



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Morri naquela sala.
Morri ali, entre os cadáveres, na escuridão das entranhas do mundo. Morri com o fogo do incinerador ainda queimando minha pele, como se o próprio demônio tivesse colocado as mãos em mim. Morri com a risada aterrorizante do diretor soando em meus ouvidos.
Mas não foi uma morte misericordiosa. Meu coração não parou de bater. Meus pulmões não pararam de arder com o ar quente. A dor incandescente não deixou meus músculos, pele, ossos. Não caí no esquecimento, como sempre achei que cairia quando a morte chegasse. Não, eu estava na Penitenciária de Furnace. E, ali, nem mesmo a morte ousava mostrar sua face. O Anjo da Morte me abandonou, como todos os demais, deixando-me a sós com meus pesadelos.
Dizem que a vida passa — como num filme — diante de nossos olhos instantes antes da morte. Bem, essa é apenas parte da verdade. O que não dizem é que você não vê os momentos felizes, os risos. Você só vê os fracassos. Deitado ali, com o som retumbante da voz dos ternos-pretos sobre minha cabeça e o fedor de carne humana chamuscada entalado na garganta, vi expostos os infinitos erros que cometi na vida.
Vi meus crimes, a noite em que meu velho amigo Toby e eu assaltamos nossa última casa. Vi os ternos-pretos e o verruguento que puxou o gatilho e reduziu Toby a uma mancha no tapete. Vi meu julgamento pelo assassinato dele, a maneira como o mundo se voltou contra mim após a batida de um martelo. Vi meu primeiro dia em Furnace, enterrado para sempre sob a terra.
Vi Donovan e Zê, e nosso plano de fuga. Nos vi levando as luvas cheias de gás da cozinha até a sala de escavação e explodindo tudo. Vi nosso castigo por tentar fugir — trancafiados nas entranhas da prisão com ratos ávidos por nosso sangue, e a solitária, que era um calabouço sem nenhuma fresta de luz.
Fui obrigado a reviver o horror que haviam feito com Donovan. Despojado de tudo o que era humano, músculos e cartilagens inchados com algo ruim que gotejava escuridão direto para suas veias. Depois, o horror que eu havia feito com ele: pressionando um travesseiro contra seu rosto até que não fosse mais uma daquelas criaturas, até que não fosse mais nada. Vi tudo, os piores fragmentos da minha vida desfilando diante de mim ao som das batidas descompassadas do meu coração.
Tentei me lembrar de algo bom. Algo que me devolvesse a esperança. Afinal, havíamos quase conseguido. Zê, eu e o garoto chamado Simon. Quase conseguimos escalar a rocha rumo à liberdade pela chaminé do incinerador. Ainda mantinha a lembrança daquele pontinho de luz em minha mente. Tinha visto o sol, e ele também me vira — talvez isso fosse o bastante. Talvez, agora, eu pudesse morrer em paz, sabendo que havia quase fugido de Furnace; sabendo que havia respirado ar fresco mais uma vez.
Só que a morte que Furnace havia me reservado não era uma morte de verdade. Os ternos-pretos tinham acendido o incinerador quando estávamos a meio caminho da escalada e nos puxado para baixo, ao encontro das chamas, com seus olhos prateados famintos por vingança. E eu sabia bem o que tinha pela frente.
Vejam! Vejam só o que os ratos trouxeram pra cá. Levem-nos para a cirurgia, preparem os Ofegantes. Ainda podemos usá-los.
O eco da voz do diretor foi uma das últimas coisas que ouvi. Porque morri naquela sala. Como todos os outros garotos perdidos de Furnace, logo renasceria, mas não seria mais eu. Teria me tornado um terno-preto; o coração tão negro quanto o paletó que vestiria. Ou então seria transformado em um rato, preso nos túneis da prisão e me banqueteando daqueles que um dia chamei de amigos.
Mas, mesmo quando senti que estava sendo arrastado para a enfermaria, jurei que aquela história não havia acabado.
Não esqueça seu nome, Monty me dissera. Não esqueceria.
Eu morri naquela sala.
Renasceria como outra coisa, uma criatura terrível.
Mas ainda seria Alex Sawyer.
E me vingaria.
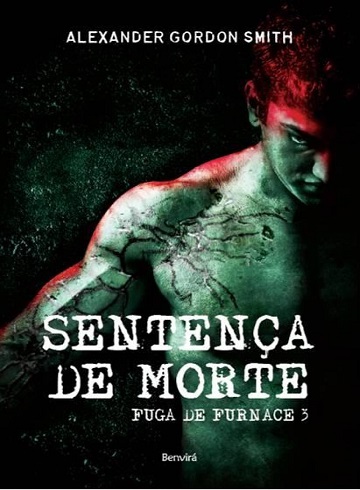
O SORO
Bem-vindo, velho amigo.
Achei ter ouvido as paredes do túnel rindo de mim enquanto era carregado por entre elas — risadas profundas que podiam ser confundidas com terremotos distantes. Em algum lugar dentro de mim, sabia que devia ser o eco da risada dos ternos-pretos, mas os danos mentais no momento eram tão graves quanto os físicos, a realidade era apenas uma lembrança distante. Vivia um pesadelo: estava em um lugar onde Furnace era uma criatura que uivava de prazer enquanto éramos levados de volta para suas entranhas, arrastados direto para a enfermaria.
Cada átomo do meu ser estava em agonia. Só Deus sabe quanto do meu corpo havia se queimado ao atingir as chamas do incinerador. Teria aberto os olhos para ver se tinha me tornado um churrasco, mas as pálpebras não me obedeciam. Teria erguido uma das mãos para checar se ainda tinha olhos, mas não tinha forças para isso. Teria gritado, mas mal havia ar suficiente em meus pulmões, invadidos pela fumaça.
Então, em vez disso, tentei desligar o cérebro. Tentei esquecer que estava vivo. Tentei inundar o corpo com uma sensação de vazio — uma vasta onda negra que extinguiria a dor da minha carne. Talvez, se pudesse fazer isso, a morte tomaria conta de mim, levando-me embora bem debaixo do nariz deles. Funcionou durante uma fração de segundo, até eu ouvir a voz:
— Ah, você não vai fazer isso, Alex — sibilou o diretor, fazendo-me voltar à consciência. — A morte não pode levar o que me pertence. — O sussurro se tornou mais alto, acompanhado pelos guinchos que eu conhecia tão bem. — Façam esses Ofegantes trabalhar. Não temos muito tempo. E peguem uma bolsa de soro, agora!
Fui baixado em direção a algo que devia ter sido macio um dia, mas que agora parecia ácido contra minha pele queimada. Tentei mais uma vez desligar a mente. Talvez, se pudesse ao menos fugir do meu cérebro por um momento, a morte chegasse e me levasse, carregando-me rocha acima rumo àquele ponto de luz do sol que havia vislumbrado apenas alguns minutos antes.
Então senti a agulha no meu braço, e algo frio percorreu minhas veias. Sabia exatamente o que era. Tinha visto acontecer antes com Gary, com Donovan — um gotejamento de pura maldade, não totalmente negro, nem puramente prateado, com pontos de luz flutuantes como galáxias em um universo de escuridão. Era o veneno do diretor, aquela coisa que transformava os garotos em monstros.
Tentei lutar, sacudir o corpo até a agulha se soltar do meu braço, mas a dor era forte demais, e eu podia sentir as tiras de couro me prendendo com firmeza ao leito da enfermaria. O pânico cresceu, ganhando vida em meu peito, e fiz um último esforço mental para escapar, para deixar a carne e me desfazer como fumaça. Mas o pesadelo líquido fluía para dentro de mim como chumbo derretido, enchendo veias e artérias e me subjugando. No entanto, é impossível se libertar de qualquer coisa quando as algemas estão dentro de você.
Era apenas uma questão de segundos antes de aquilo atingir meu cérebro. Para minha surpresa, a agonia diminuiu. Senti-me da mesma maneira que havia me sentido anos atrás — talvez uma eternidade atrás —, quando quebrei o pulso e os médicos me deram morfina. Era como se não estivesse mais conectado com qualquer coisa física, como se minha mente estivesse livre.
Eu devia ter imaginado o que viria depois. Por um instante de genuína felicidade, não senti nada, mas depois as comportas se abriram, e algo bem pior que a dor física irrompeu cérebro adentro.
Dessa vez, consegui gritar.
Era como se o diretor tivesse penetrado em minha mente nas ondas do veneno, porque podia jurar que sua voz vinha de dentro do meu crânio.
Está acabado, disse-me ele, o som de sua voz fazendo com que imagens de podridão surgissem em minha cabeça. Vi algo que parecia ser carne em decomposição, algo que podia ter sido um cão; no entanto, a imagem evaporou após um segundo. O diretor continuou: Tudo o que você foi um dia, tudo o que é agora e tudo o que você sempre quis ser — está acabado.
Queria argumentar; queria abrir a boca e lhe dizer que estava errado, mas as palavras eram como vermes se impregnando na carne do meu cérebro. Elas se banqueteavam e ganhavam corpo sob um riso seco, revelando visões tão terríveis que não conseguia suportar nem extrair sentido delas.
Você não ganha nada em resistir. O que flui dentro de você agora é muito mais poderoso do que essa bobagem que chama de alma. Entregue-se, pois sem isso você não é nada.
— Sou, sim... Eu sou Alex... — tentei balbuciar, mas, mesmo dentro da mente, aquela voz era mais forte que a minha.
Você não é nada, não pode ser nada. Renda-se e desista. Você nunca foi Alex Sawyer, porque Alex Sawyer nunca existiu.
— Você está errado. Eu sou... — comecei, mas as palavras soaram tão fracas que eu mal podia ouvi-las. Ele me interrompeu com outra risada, e dessa vez, quando falou, sua voz era como dedos penetrando bem fundo em meu cérebro.
Alex Sawyer nunca existiu. Você é um de nós.
Os dedos se moviam como se pegassem algo dentro de mim, e, com nada além de um lamento, caí no vazio fúnebre que um dia havia sido minha alma.
Estava em pé em uma vala lamacenta e, por um momento, achei que tivesse sido libertado. Depois olhei para o céu e vi um vazio sem fim de escuridão, então me dei conta de que estava sonhando.
À esquerda e à direita havia paredes de rocha cor de sangue, escarpadas e altas demais para ser escaladas. Não que desejasse fazê-lo — porque poderia provocar rachaduras involuntárias que causariam uma fina chuva de rocha avermelhada. Estava prestes a afastar os olhos da trincheira, quando percebi um vulto indistinto na lama. Não consegui ver bem o que era até que apareceu um par de olhos me encarando.
Quando uma boca se abriu sob aqueles olhos e lançou um uivo de desespero, eu já corria a plenos pulmões. O chão agarrava meus pés, da maneira como acontece nos pesadelos, reduzindo a velocidade de minha fuga. E, quando olhei para baixo, eram mãos que eu via querendo me agarrar da lama — dedos retorcidos tentando alcançar minhas pernas. Eu as chutei, tentando não perder o equilíbrio, tentando de todo modo não cair.
Mas eram muitas; dezenas de mãos e rostos emergindo do solo como mortos-vivos. Senti o mundo girar; vi o chão se apressar em minha direção. Não houve impacto. Antes que pudesse aterrissar, a trincheira pareceu congelar — tudo, exceto uma poça imunda sob meu rosto. A água lamacenta formou uma protuberância, depois lentamente se esculpiu para revelar uma face sob ela, semioculta pela sujeira, mas ainda assim familiar.
— O que você quer? — perguntei, embora o som da minha voz não saísse.
A boca abriu e se moveu como se falasse, mas eu não conseguia ouvir nada.
— Quem é você? — perguntei na linguagem muda, estudando os olhos, o nariz, tentando me lembrar onde havia visto aquele rosto antes. Ela não parou de falar, mas parecia haver uma película de vidro à prova de som entre nós. Concentrei-me em seus lábios, cobertos de lama, porém visíveis.
Não... consegui entender, lendo a maneira como se moviam.
... esqueça... podiam ter sido milhões de palavras, mas de algum modo eu sabia. Assim como sabia o que viria a seguir.
... o seu nome, expressou a figura. Abri a boca para responder, mas, antes que pudesse fazê-lo, a face se transformou em uma expressão de puro terror, os olhos parecendo diamantes enterrados na terra molhada. Só então me reconheci na lama — o rosto era um reflexo do meu. Tentei dizer mais alguma coisa, mas a face foi sugada para dentro da terra, a lama entrando por sua boca e nariz, fluindo pelos olhos ainda abertos, até que nada restou.
— Espere! — gritei. — Espere!
Então o resto da trincheira mais uma vez adquiriu vida, mãos zumbis agarrando pernas e roupas e me puxando para o túmulo de lama. Meu coração se apertou; a sensação de estar sendo enterrado vivo era aterrorizante demais para minha mente semiadormecida. A trincheira explodiu em poeira, a escuridão que fluía dentro dela como água me impulsionando de volta à superfície. Saí do sonho como um náufrago vem à tona, arfando em busca de ar e me agarrando à escuridão da noite.
Não demorou muito até me dar conta de que o mundo real era ainda mais aterrorizante do que o pesadelo.
Mas bem pior era o fato de que, por vários segundos depois de acordar, não conseguia me lembrar de quem eu era.
SOB A MIRA DA FACA
Embora ainda não conseguisse enxergar, sabia que o diretor me obser-vava. Eu me contorci como uma formiga tentando escapar de um fósforo aceso, mas o leito me segurava com suas correias de couro, e a única reação do diretor foi um risinho sarcástico.
— Você estava sonhando? — perguntou ele, a voz distante e ao mesmo tempo sussurrada em meus ouvidos. Parte de mim estava contente por não poder ver. Significava que não teria de encarar aqueles olhos, ou o lugar onde deviam ter estado se algum dia alguém os tivesse encontrado. — Todos sonham nas primeiras vezes.
Abri a boca, esperando que algumas palavras saltassem dela, mas estava tão seca que minha resposta ficou presa na garganta.
— Sonhos com lugares tenebrosos — prosseguiu o diretor. Podia ouvir o ruído dos sapatos enquanto ele andava perto do meu leito, de um lado para o outro. Ao fundo havia outro ruído, um monitor cardíaco que marcava minha fraca pulsação; a cada batimento, um som. Lembrava-me das máquinas que tinha visto ao lado dos leitos na enfermaria; era ali que eu estava agora, apenas outro espécime, vítima da má prática científica de Furnace. O pensamento deveria ter me aterrorizado, mas o veneno nas veias aprisionava minhas emoções do mesmo modo que as tiras de couro prendiam meu corpo.
Mais uma vez tentei falar, cuspindo um pedaço de uma palavra que nem mesmo eu conseguiria ter interpretado. Porém, o diretor parecia saber exatamente o que eu queria dizer.
— Zê? Sim, ele está aqui. E aquela criatura que tirou vocês da cela também. Mas eles, assim como você, estão prestes a passar desta existência para outra, bem mais significativa. Diga-me — o leito rangeu quando o diretor se sentou na beirada do colchão —, o que viu enquanto dormia?
O sonho já tinha se desvanecido, deixando em minha mente nada além de um resíduo que se assentou em minhas entranhas como uma bola de canhão. Mas consegui me lembrar de uma trincheira, de corpos enterrados na lama, e do meu reflexo distorcido sendo sugado terra adentro. Mantive a boca fechada, sem querer dar ao diretor a satisfação de uma resposta, mas mais uma vez ele pareceu extrair os pensamentos direto da minha cabeça.
— A trincheira — murmurou, o júbilo na voz parecendo mel rançoso. — O exército derrotado. Fascinante. Não esperava menos de você. — A cama se mexeu, o farfalhar do terno do diretor se fazendo ouvir quando voltou a andar perto do leito. — Com esta, foi a segunda vez que você quase escapou daqui. Impressionante.
Pela primeira vez desde que havia sido preso, ouvi uma ponta de raiva na voz do diretor e me encolhi no leito para tentar escapar dela. Mas conseguia sentir seu rosto bem perto do meu, a respiração asquerosa na minha pele.
— Duas vezes? Considero esta uma atitude muito arrogante.
Ele continuou a falar, e me esforcei para ouvir o que dizia, até perceber que as palavras agora não eram dirigidas a mim. Um Ofegante entrou com seu andar ruidoso e oscilante na sala, e senti o pânico aumentar, embora estivesse envolto em uma névoa analgésica de veneno. O diretor sussurrou mais algumas palavras, antes de a voz se voltar em minha direção:
— Bem, no fim, as coisas parecem ter funcionado a contento. Tenho de lhe agradecer por trazer essa gentalha até nós. Conseguimos destruir alguns desses ratos bastardos, e outros foram recolhidos. Logo você os verá de novo. Alguns de meus homens morreram e tiveram que ser... eliminados. Mas sempre podemos fabricar mais deles. — Ele riu, um som abafado e infantil que fez minha pele chamuscada se enrugar. — Por falar nisso, devemos começar. O néctar vai mantê-lo vivo por enquanto, mas só a faca pode salvá-lo.
Outro ruído de respiração ofegante tomou o quarto, seguido de um eco, depois dois. Contra a tela negra de minha cegueira, imaginei aquelas criaturas se contorcendo, cambaleantes, em minha direção, a máscara de gás costurada na face putrefata, agulhas imundas enfiadas no cinto e bisturis estendidos para o meu rosto. Lutei contra as amarras que me mantinham imóvel até sentir o couro ferir minha pele; até meus músculos se contraírem em câimbras, mas ainda assim continuava impotente.
— Não resista — falou o diretor, a voz sumindo aos poucos como se se afastasse. — É um renascimento.
Então algo frio foi pressionado contra minha boca, e o que respirei desceu pela garganta, mais uma vez me fazendo cair no esquecimento.
Dessa vez não havia trincheira, apenas um quarto vazio. Alinhadas contra uma parede, de joelhos, encontravam-se seis figuras. Todas tinham as mãos algemadas às costas e a testa pressionada contra as pedras rochosas. Não conseguia ver os rostos, mas, como era um sonho, sabia quem eram — todos garotos da minha idade, o rosto cadavérico de fome e manchado de lágrimas. Vestiam macacões imundos que um dia poderiam ter sido uniformes de Furnace, exceto por terem um número escrito às costas. Em todos, o mesmo número: 36. E, abaixo dele, quase irreconhecível em meio à imundície do tecido, um símbolo que fez calafrios percorrer minha espinha, mesmo no sonho: a suástica, a inconfundível insígnia dos nazistas.
— Quem são vocês? — perguntei, mas nenhum som saiu da minha boca. Gritei as palavras mais uma vez, berrei de novo, mas o silêncio pesado do quarto permanecia imperturbável. Também não havia movimento; toda a cena era tão estática quanto uma fotografia, até que um dos garotos começou a se mover. Principiou com um tremor, que fez o macacão ondular como água na superfície de um rio. Depois a cabeça passou a se agitar ferozmente de um lado para o outro, o corpo logo imitando o movimento, até que foi arremessado contra a parede.
Segundos depois, outro dos meninos começou a sofrer um ataque similar, depois um terceiro, até que todos os garotos parecessem fantoches sendo manipulados por um lunático. As convulsões tornaram-se tão violentas que o cabelo deles caía aos tufos e a pele começou a se romper em feridas. As cabeças balançavam de um lado para o outro tão depressa que tornava quase impossível a identificação dos rostos, todas transformando-se em um borrão tingindo a parede de vermelho.
O garoto que sofrera o primeiro ataque parou, arrancando as algemas como se fossem de papel. Agachou-se e se virou, e vi uma face muito adequada àquele pesadelo. A pele soltava-se do corpo em tiras, a mandíbula deslocada e pendendo no vazio, os olhos prateados brilhando ao fitar os meus com puro ódio.
Ratos.
Os espasmos dos outros garotos cessaram, e, livres desse obstáculo, levantavam-se agora, deixando marcas impressas a sangue na parede. Deparei então com uma série de criaturas monstruosas prontas para me dilacerar, membro a membro. O medo que me fazia desejar correr era também o que me mantinha imóvel no lugar, e não pude fazer nada além de assistir enquanto avançavam até mim.
Algo explodiu em meu ouvido, o ruído tão alto que por um momento meu coração falhou. Outra explosão, o ruído de um tiro, e depois vários outros na sequência, enquanto as balas atravessavam o ar e atingiam os garotos transformados em ratos. Em segundos, o lugar estava repleto de fumaça, e os garotos eram nada mais que cadáveres.
Uma voz substituiu os tiros, uma linguagem que eu não entendia, mas em um tom que era facilmente compreensível. Senti o contato do cano quente da arma contra minha têmpora e fechei os olhos, rezando para que o silêncio retornasse, assim não ouviria o tiro que me mataria.
Quando acordei, a sensação de ter sido executado era quase real. Meu rosto ardia, tal como quando meu corpo fora queimado no incinerador, e sentia uma pressão sobre os olhos, dando a impressão de que algo tentava penetrar minha cabeça à força. Meus braços ainda estavam bem amarrados, e não havia nada que detivesse o pânico expelido por minhas entranhas, até perceber que, em vez de escuridão, era banhado por um halo de luz fraca.
Respirei fundo e tentei conter o medo. Pisquei, esperando que o brilho indistinto diante de mim se focasse em algo reconhecível. Mas isso não aconteceu, e permaneci diante de uma disforme nuvem cinzenta e esbranquiçada. Movi o rosto, sentindo algo amarrado bem firme em torno da cabeça, e de repente me dei conta do que tinha acontecido.
Quando tirassem as bandagens, meus olhos seriam frios e prateados.
Queria gritar, mas o veneno do diretor — como ele o chamava... néctar? — ainda sobrecarregava meus pensamentos, impedindo a manifestação de qualquer emoção. Mesmo assim, a imagem de mim mesmo com os olhos de um terno-preto, ou mesmo de um rato, dançava contra uma cortina esfumaçada, e mais uma vez não pude gritar. Preferiria ter ficado cego.
Era a primeira coisa que faziam com os garotos, sabia disso muito bem. Lembrei-me de quando tinha ido à enfermaria e visto Gary deitado em um leito, da mesma maneira que me encontrava agora, as bandagens cobrindo-lhe o rosto e uma substância estranha vertendo dos olhos. Em seguida, retalhariam meu corpo, meu rosto, e me estufariam de músculos até ficar grande o bastante para caber perfeitamente em um terno preto. O néctar já teria feito seu trabalho, destruindo meu cérebro, assim como os bisturis fariam com meu corpo, tornando-me um deles.
E tudo o que conseguia fazer era ficar deitado ali e sonhar. Pesadelos enquanto dormia; pesadelos quando acordava.
Como se tentasse me distrair dos próprios pensamentos, um gemido fraco se esboçou além do som do monitor cardíaco, pairando no ar por um segundo antes de desaparecer. Alguém o repetiu, dessa vez mais perto, e o ruído terminou com um soluço abafado. Abri a boca, flexionei a mandíbula e respirei o mais profundamente que a dor me permitia.
— Zê? — sussurrei, uma palavra tão seca quanto minha garganta. Tentei de novo, obtendo um murmúrio: — Zê?
A única resposta que obtive foi o guincho de um Ofegante, um grito sem melodia, como o ruído de uma máquina quebrada. Ouvi som de botas na superfície rochosa, o tinido de agulhas enquanto se afastava. Pisquei de novo, a pressão ameaçando explodir meu cérebro. Estar ali era ainda pior do que estar trancado na escuridão do buraco. Pelo menos lá eu sabia que estava sozinho.
— Zê? — perguntei, a aflição dando força a meu grito. — Simon?
— Quieto. — A resposta foi tão baixa que tive a impressão de tê-la imaginado. Mas ela se repetiu, próxima o bastante para ser proveniente do cubículo ao lado. — Alex, se for você, tem que ficar quieto. Vão matá-lo se o ouvirem falando.
— Zê? — repeti, mais baixo dessa vez. Tinha ouvido apenas sussurros, e era difícil reconhecê-los, mesmo conhecendo a voz de Zê. Não obtive resposta, só o ruído dos trilhos da cortina quando meu cubículo foi aberto. Ouvi o Ofegante bem em cima de mim, aquele rugido grotesco, como se estivesse se sufocando com sangue na garganta. Pelo que pareceu uma eternidade, nada aconteceu. Depois, senti uma dor lancinante no braço. Antes que pudesse pensar em gritar, algo fluiu com rapidez pelas minhas veias, como se fosse gelo seco, o veneno extraindo até o último pensamento de minha cabeça.
Gritei de novo, mas dessa vez não foi nada além de um eco mental, atraindo-me de novo à noite interminável.
UM OUTRO OLHAR
— Por que está resistindo?
Eram as palavras que me arrastavam para baixo, tanto quanto me faziam vir à tona. Mesmo ao acordar de mais e mais pesadelos — a mesma cena de garotos se transformando em monstros —, reconhecia aquela voz. A maneira como ecoava no ar me fez compreender que não estávamos mais na enfermaria. Aquilo e a ausência de qualquer outro som.
— Por que você resiste? O que estou lhe oferecendo é poder, algo que nunca teve. Abra os olhos.
Percebi que estava sentado, braços e pernas amarrados. A dor era agora um latejar contido, a luz que entrevia pelas pálpebras ainda uma neblina disforme. Sacudi a cabeça, sabendo que obedecer ao diretor só traria mais agonia.
— Abra os olhos — ele repetiu, e dessa vez a voz carregava a promessa de algo pior que a dor. Engoli com dificuldade, aspirando um pouco de ar, e tentei abrir os olhos. Por um segundo, nada aconteceu; depois, com um som fraco, as pálpebras se separaram. A impressão era de que alguém segurava um ferro de soldagem contra minha retina, por isso os fechei de novo.
— Só dói por um instante — esclareceu o diretor, e a compaixão no tom de sua voz me impressionou. Abri os olhos um pouquinho, rangendo os dentes, enquanto a tortura se transformava em desconforto, e este depois se tornava não mais que uma leve ardência. Pouco a pouco, o mundo voltou a entrar em foco, e, para minha surpresa, vi aquilo que achava ser luz se transformar em uma coisa totalmente diferente.
Estava em um quarto feito de matizes prateados, tudo indo do cinza mais escuro ao claro prata lunar. Estreitei os olhos, visualizando cada traço nas paredes de pedra, cada rachadura do teto baixo, cada grão de poeira no chão. Era informação demais para ser captada, e me senti nauseado, embora não houvesse nada para expulsar do estômago.
— Vá com calma — disse o diretor atrás de mim, a voz ainda expressando um tom de bondade que jamais pensei ser possível ouvir. — É muita coisa para ser apreendida ao mesmo tempo.
Ele colocou a mão em meu ombro com gentileza, depois deu a volta até entrar em meu campo de visão. Para esses meus novos olhos, parecia um anjo, a pele irradiando um brilho de platina, cada centímetro de tecido do terno vasto e claro. Mesmo assim, ainda não conseguia encará-lo. Podia ver o que havia ali: dois portais de fogo frio que lançavam luz no quarto e faziam tudo parecer feito de chumbo derretido.
— O que está acontecendo? — perguntei, desejando, sem conseguir, erguer uma das mãos para me proteger da intensidade de seu brilho.
— Eu já lhe disse — ele respondeu, as palavras se assemelhando a uma névoa de luz pairando no ar, assim como o ar exalado da boca de alguém em uma manhã fria. — Estou lhe oferecendo poder. Um poder que jamais imaginou ter.
Balancei a cabeça, tendo consciência de que ele mentia só para baixar minhas defesas.
— Não é um truque — prosseguiu o diretor com uma risada. — Você não confia nos próprios olhos?
— Eles não são meus — cortei, cerrando-os com força.
— Claro que são — disse-me ele, e senti os dedos lisos agarrarem meu queixo, virando-me a cabeça para encará-lo. — É natural que você resista, mas pense no que estou lhe oferecendo. Alguma vez já sonhou que pudesse enxergar no escuro?
Abri os olhos e, dessa vez, minha pulsação acelerada não tinha nada a ver com medo. Olhei de novo para as paredes e suas veias prateadas e notei os poros da mão que me segurava.
— Luzes — disse o diretor, e instantaneamente o quarto virou às avessas, a prata adquirindo substância, sombras substituídas por cor.
Senti o mundo girar, mas os dedos do diretor em minha carne me mantinham firme. Só quando a visão se estabilizou, ele me largou, andando de um lado para o outro como que imerso em pensamentos. Observei o que havia ao redor — um pequeno quarto com a cadeira em que estava sentado e uma cortina na parede à frente. Tudo parecia ter muito mais detalhes do que seria possível, como se visto através de uma lente de aumento.
— É só o começo — continuou o diretor. — Logo você vai ver o que é o verdadeiro poder. Diga-me: não há uma parte de você que odeia o mundo pelo que ele tem lhe causado; que odeia ser uma criança indefesa, tratada como um verme, alguém que não tem controle sobre a própria vida?
Eu sabia o que o diretor estava fazendo; ele tentava me manipular. Mas algo nas palavras dele me atingiu com uma força impossível de se negar. Ele tinha razão. O mundo havia esquecido de mim, me trancado e jogado a chave fora. Pensei em quantas vezes tinha sonhado com a fuga de Furnace, passando por todos os obstáculos, até alcançar a luz do sol.
— Não — falei, tentando raciocinar. O diretor fora o culpado de acabar com minha vida; ele e seus ternos-pretos. Se não tivessem matado Toby e me encarcerado pelo assassinato dele, poderia ter retomado o controle; poderia ter me endireitado. — Não, isto é obra sua. Foi você quem fez isso comigo.
O diretor parou de andar e se virou para me encarar. À luz fria do quarto, seu olhar era nauseante, e, embora fechasse meus olhos e os desviasse do rosto dele, podia sentir seus pensamentos se intrometendo nos meus. O diretor passou a falar como uma mãe que repreende o filho:
— Eu sei, eu sei. É por minha causa que você está aqui. Mas pense no que estou lhe oferecendo. Se você se entregar a mim, ninguém lá em cima — ele quase cuspiu essas três palavras — poderá, jamais, lhe dizer de novo o que fazer. O mundo está mudando, e não é melhor estar com aqueles que detêm o poder em vez de com aqueles que têm de se submeter a ele?
— Não vou deixar que me transforme em um deles — berrei em resposta. Mas mais uma vez as palavras do diretor se fincaram no meu coração, fazendo-o pulsar forte, não com terror, mas sob efeito de outra coisa: excitação.
— Tudo o que você já desejou, e tudo o que pedimos, é que esqueça sua antiga vida. Pense nisso, pense bastante e profundamente nisso. Do que está abrindo mão na verdade? De uma história de fraqueza, de cri-me, de gente lhe dizendo o que fazer. O que estaria realmente perdendo?
— Mas meus pais... — tentei falar, provocando-lhe uma explosão de risos.
— Seus pais? Aqueles que o abandonaram quando mais precisou deles; que o deixaram aqui para apodrecer sem sequer tentar apelar de sua sentença? Eles são parte da doença que dilacerava sua antiga vida. Desista, desista de tudo isso, e abra os braços para algo novo.
— É o que sou — respondi. — Não vou deixar que me tome isso.
— Como pode me deter, a menos que se entregue a mim? Sem minha ajuda, você é impotente. Não há nada para você em seu passado. Esqueça-o, esqueça-se de quem era e se entregue a mim.
Por um instante terrível, quase sucumbi. Algo em meu sangue borbulhou em resposta àquelas palavras. Podia me ver como um deles, forte demais para que me falassem o que fazer, ágil demais para ser capturado — uma força irreversível que poderia se vingar de qualquer um que tivesse me prejudicado.
Mas não seria eu. Não seria eu.
Pensei em Donovan, que devia ter passado por esse mesmo processo. Eu o vira lutar repetidamente até não lhe restarem mais forças. E vira no que ele se tornara, aquele sorriso sem alma, o corpo superinchado, os olhos sem vida.
— Nunca! — gritei, forçando com violência as tiras que me prendiam à cadeira. — Meu nome é Alex Sawyer. Meu nome é Alex Sawyer. Alex Sawyer, Alex Sawyer, Alex Sawyer.
E continuei repetindo meu nome sem parar, mesmo quando a fúria do diretor explodiu, mesmo quando o Ofegante que havia estado de pé em silêncio atrás de mim espetou outra agulha em meu braço. Continuei repetindo, até que o veneno mais uma vez abrandou minha voz, e mesmo quando entrou fervilhando em minha mente, levando para a escuridão todos os outros pensamentos.
— Então, que seja — disse o diretor. — Podemos fazer isto da maneira mais difícil. Imobilize os olhos dele com o alfinete e comece a rodar.
— Tentei resistir às mãos que me agarravam, mas o que eu poderia fazer? Senti minha cabeça fixada no encosto da cadeira e algo sendo inserido na carne ao redor de meus olhos. E, quando a cortina à frente apareceu como uma mancha em tons avermelhados, descobri que não conseguia piscar, tampouco me virar.
— Todos desejam o poder, admitam ou não. Vamos ver como se sente depois de um dia aqui.
Então, com um ruído de grades e o rangido de uma porta se fechando, eles se foram, deixando-me só com as piores visões do mundo.
Começou com animais, em algum lugar nas planícies da África, imaginei eu. A cena era apavorante e esmaecida, como se o filme tivesse sido passado um milhão de vezes antes, mas sem perder o impacto violento do que acontecia na tela. Leões caçavam antílopes, as garras rasgando os tendões para imobilizá-los e depois colocando os dentes na garganta para se certificar de que as presas não se levantariam. Bandos de cães selvagens atacavam filhotes de gnus, subjugando-os com as mandíbulas gotejantes de saliva até matá-los. Gazelas abatidas por guepardos em caçadas de alta velocidade, o focinho dos predadores cheio de sangue coagulado.
Poderia ter sido algo extraído do Discovery Channel, um filme que destacasse os predadores mais ferozes da natureza. Quase ri diante daquele pensamento ridículo. Exceto por sentir algo dentro de mim se revirar ao ver tais cenas. De início achei que era pena das criaturas que morriam. Quando assistia a programas como aquele quando criança, torcia pelas presas, rezava para que conseguissem se salvar. Detestava quando os predadores venciam; odiava a expressão de orgulho ao se banquetearem com a carne fresca. Estava sempre do lado da vítima.
Mas agora, imóvel em uma cadeira com todo mundo me obrigando a fazer coisas que não queria, não sentia mais pena da presa. Toda vez que via um antílope de olhos arregalados cair abatido, o alvoroço enquanto o leão literalmente arrancava a vida dele, ria com uma satisfação doentia. Meu estômago se contraía como costumava acontecer quando assaltava uma casa. Arrepios percorriam minha pele, e sentia a pulsação um pouco mais acelerada. Ao ver o brilho desaparecer dos olhos de um coelho esmagado sob uma pata gigantesca, não sentia nada senão ódio pela fraqueza da criatura, e nada além de admiração pela besta que a havia subjugado.
A sensação era tão intensa que logo me fez esquecer a dor nos olhos. Nos primeiros minutos, tinham ardido bastante, mas, à medida que uma chacina se sucedia à outra, a agonia pareceu se tornar parte do meu cor-po, um pequeno sacrifício que devia empreender para ficar mais forte — assim como leões, guepardos e cães selvagens tiveram de passar pelo inferno e lutar um dia atrás do outro apenas para sobreviver. Não sei quanto tempo se passou, ou quanto sangue fluiu, antes que admitisse a mim mesmo que não teria desviado os olhos, mesmo que tivesse opção.
Tentei me convencer de que era o veneno em minhas veias que havia alterado meus pensamentos. E até que existia certa verdade nesse fato — podia sentir o néctar se espalhando em meu corpo a cada batida do coração, o líquido escuro ganhando vida própria em minhas veias, como se o filme na tela clamasse por ele.
No fundo, no entanto, tinha consciência de por que havia desfrutado daquele abate diante de mim com tal satisfação. O diretor estava certo: eu era impotente. Era um dos patéticos ruminantes da reserva africana de Serengeti, um coelho ou antílope covarde demais para fazer qualquer coisa, exceto correr quando o perigo o ameaçava. Cada momento de minha vida havia sido envolto em tensão, o perigo de ser capturado sempre à espreita — quando assaltava casas, quando fora encarcerado pelo assassinato de Toby, quando me vira cara a cara com as gangues na prisão. Sempre havia sido a presa, jamais o predador.
E isso nunca tinha sido mais verdadeiro do que quando fora caçado pelos ternos-pretos. Rápidos, poderosos e destemidos, eram o retrato fiel do caçador, verdadeiros reis naquela selva subterrânea. Jamais poderia ser outra coisa senão a presa capturada, desamparada e gritando sob suas botas.
A menos que me tornasse um deles.
Não tinha certeza se a voz dentro da cabeça era minha ou do diretor, e o choque daquela constatação me trouxe de volta. Tentei piscar, girar a cabeça, mas os movimentos só aumentavam a dor nos olhos. Desesperado para escapar da maneira que pudesse, obriguei minha visão a sair do foco, tornando as figuras indistintas, como se fossem apenas manchas. Mas meus novos olhos eram eficientes demais para perder com tanta facilidade a capacidade de ver o mundo, e, a cada detalhe doentio que captavam, via-me afundando ainda mais na armadilha do diretor.
Pode ter sido uma hora, talvez duas ou três mais tarde, quando o filme terminou e um novo começou. Dessa vez não eram animais, mas pessoas, e a violência nua e crua era a mesma. Não podia fazer nada além de assistir a grupos de policiais dando cacetadas em vítimas no asfalto, brutamontes esmagando oponentes menores com um riso abafado, filas sem fim de soldados marchando em perfeita cadência pelas ruas de uma cidade destruída, os inimigos conquistados se encolhendo de medo diante deles.
Mais uma vez a dominação maciça dos fracos, a submissão poderosa dos impotentes. Meu horror se transformou novamente em excitação, que depois virou inveja. Quando apaguei, lançado em um sono inquieto ao som da marcha de botas de aço, a inveja tinha se tornado uma fome de poder bem maior do que qualquer outra encontrada na natureza. E o som vazio do meu riso enviou calafrios à minha espinha, enquanto este novo pesadelo me engolia.
VOZES
Eu entrava e saía do estado de consciência enquanto o filme sem fim rodava diante dos meus olhos, incapaz de dizer quais eram os horrores que havia visto na tela e quais tinham vida apenas nos sonhos. Certa vez, quando acordei, pude sentir o diretor de pé a meu lado. Não conseguia me virar para encará-lo, mas era capaz de perceber o sorriso em seu rosto ao assistir a um pelotão de soldados de farda preta lançando um cadáver só pele e ossos sobre uma pilha de corpos.
— O mundo sempre funcionou dessa maneira — ele falou. — E sempre vai funcionar assim. À maioria das pessoas não é dada a escolha de assumir o lado dos predadores ou das presas, mas a você, sim. — Inclinou-se mais para perto de mim, o mau hálito sendo o acompanhamento perfeito para o horror projetado diante dos meus olhos. — Sei como se sente. É impossível se sentir diferente. Porque até agora você foi a vítima.
Cenas esmaecidas em tons de cinza mostravam um adolescente cadavérico, não muito mais velho que eu, escoltado para a frente de um esquadrão de fuzilamento. Mesmo através da avalanche de arranhões e falhas na projeção do filme, podia ver como estava aterrorizado, e nenhum capuz era capaz de esconder os gritos quando homens anônimos de rifle em punho levantaram as armas e atiraram.
— Estou lhe oferecendo a chance de ser muito mais — prosseguiu o diretor com sussurros ásperos contra meu ouvido. — Ninguém vai mais pisar em você. Poderá assumir o controle do próprio destino e será poderoso demais para que qualquer um venha lhe dizer o que fazer. Quer dizer, qualquer um, exceto eu. — As palavras me atingiram com aquela força difícil de ignorar, e, quando me lembrei de abrir a boca para contradizê-lo, ele já havia partido.
Muito mais tarde, talvez, acordei e senti a agulha sair do meu braço, substituída por uma nova. Ouvi a respiração ofegante da criatura que estava de pé a meu lado, sentindo os dedos imundos em minha pele, e gritei durante todo o tempo que levou para o néctar fluir de novo até minhas artérias. Foi como se tivessem me injetado cafeína pura, e de repente as imagens na tela tornaram-se ainda mais pungentes, o veneno como uma criatura viva dentro de mim florescendo no sofrimento, como alguém que quisesse testemunhar através dos meus olhos o máximo de dor possível.
Não sei com certeza quando adormeci de novo, mas, quando me mexi novamente, fiquei surpreso ao ver que o filme havia terminado, substituído por uma escuridão velada. Pelo menos foi o que pensei, até que a escuridão se moveu e percebi que havia sido uma mão. Diante de mim estava um terno-preto, e naqueles olhos prateados vi o reflexo dos meus, ecoando nos dele através do infinito. Ele sorriu para mim, mas não demonstrou nada da maldade a que me acostumara. Em vez disso, o sorriso era quase de piedade.
— No início, é difícil assistir — grunhiu o terno-preto, a voz retumbante reverberando pelo aposento. Ele ergueu a mão e banhou de novo meus olhos no calor sem luz de sua sombra. — Mas não por muito tempo. Todos passamos por isso. Essa experiência nos tornou mais fortes, mais poderosos. Vou dar um descanso a seus olhos, mas, quando eu for embora, não resista.
Tentei falar, mas minha garganta estava seca como uma lixa. Tossi e tentei de novo:
— Um dia você foi como eu — sussurrei, as palavras quase inaudíveis sobre o som do filme, estalos de ossos se quebrando invadindo o ar. — Um garoto. E eles o transformaram em um monstro.
— Nunca fui como você — respondeu o terno-preto. — Nenhum de nós foi. Nascemos em Furnace; renascemos do sofrimento para o poder. E com você também será assim. Não resista.
Então ele se foi. Sem mãos para impedir, as comportas se abriram mais uma vez, e as mutilações caíram como cascata dentro da minha mente. Tentei repeli-las, lutei para me lembrar de quem eu era e o que havia acontecido comigo. Mas o filme na tela era uma onda de violência que me consumia, e, enquanto me afundava no desfile sem fim de sangue e ferimentos, percebi que não seria mais possível lembrar-me de quem eu era. Tudo o que conseguia ver no cemitério de minha mente era um terno-preto que reconhecia como sendo eu, chutando e socando inimigos até que nada mais restasse deles.
E o maior horror era que aquilo me parecia ótimo.
O padrão de violência do filme deve ter queimado minhas retinas, porque, embora ainda pudesse vê-lo passando diante de mim, estava consciente de estar deitado em meu leito, de volta à enfermaria. Pisquei, o alívio me inundando ao perceber que podia fechar os olhos. Quando os abri de novo, a imagem havia desaparecido, e me vi olhando para a pedra sombria do teto. O único movimento eram as luzes, que balançavam com suavidade, como que alheias aos soluços que ouvia ao redor.
Olhei de um lado para o outro, encolhendo-me quando os músculos do pescoço se contraíram. Rangendo os dentes, consegui movimentar um pouco a cabeça, para afastar a dor. Deus sabe por quanto tempo ficara amarrado àquela cadeira. Poderiam ter sido horas, dias, semanas. Nas entranhas de Furnace, tão abaixo da superfície, não havia como falar em tempo. Talvez ele nem existisse ali.
Tentei mover os braços, sabendo, sem olhar, que estavam amarrados por tiras de couro. Senti a frustração crescer dentro de mim e praguejei sob a respiração entrecortada, odiando-me por me sentir tão inútil. Quando me livrasse daquilo, assim que as correias fossem afrouxadas, deixaria o diretor e seus ternos-pretos em pedaços.
Aquele pensamento me encheu de uma espécie de euforia, tão poderosa que me causou certa tontura. A adrenalina percorreu meu corpo, e senti o veneno fluir com ela, absorvido com tanta rapidez que os músculos quase se incendiaram. Sob o lençol fino pude vê-los se inflando, as tiras de couro emitindo um ruído estranho enquanto meus membros inchavam. Demorou apenas alguns segundos antes de aquela energia me abandonar, deixando-me como um pedaço de casca jogada no lixo. Mas a euforia que havia sentido me fez sorrir.
Além do retumbar do meu coração, ouvia um dos Ofegantes em algum lugar da enfermaria, os passos cambaleantes acompanhados do tinido de seringas de vidro e do silvo seco de sua respiração. Havia também um ruído que vinha de algum lugar à esquerda, um gemido tão fraco e perturbador quanto o de uma mosca agonizante. Ignorei-o, mergulhando uma vez mais no turbilhão dos meus pensamentos.
Assim que estivesse livre, iria me dedicar à vingança. E esta não se limitaria às criaturas estranhas de Furnace. Mataria todos. Os companheiros de prisão que me haviam feito passar por momentos difíceis. A polícia, que tinha me capturado e me acusado de um crime que eu não cometera. Um crime que eu não poderia ter cometido; não naquela época, pelo menos. Agora não teria problema nenhum em puxar o gatilho se meus inimigos ficassem diante de mim. Eu os faria desejar jamais terem se metido comigo. E eles estariam gritando de agonia quando terminasse o serviço.
Eu me vi irrompendo delegacia de polícia adentro. Os policiais tentariam pegar as armas, mas não seriam rápidos o bastante. Já estaria com a mão na garganta deles antes que pudessem pedir ajuda, e estariam mortos antes de atingir o chão.
O ruído à esquerda voltou, distraindo-me da fantasia. Eu o ignorei, querendo voltar ao meu mundo mental, onde não era impotente; onde podia dar todos os tiros que quisesse. Quando acabasse com a polícia, iria atrás do júri que havia me condenado e também do juiz que tinha me mandado para lá. Nenhum deles escaparia. Por fim, iria atrás dos meus pais. Eles não haviam ficado a meu lado quando mais precisara deles; quando minha vida estava em jogo. Não tinham lutado por mim; tampouco haviam acreditado em minha inocência. Bem, eles pagariam, como os demais.
A voz voltou, sussurrando uma palavra que não reconheci.
— Quietos — falei, minha voz também pouco mais que um murmúrio. Gostava do som dela. Não era mais o choramingo queixoso que conhecera durante toda a vida. Agora era mais forte, uma voz que podia provocar terror nas pessoas. Falei de novo, um tinido retumbante que soava como um dos cães do diretor. Terminava em um riso distorcido, ao fundo do qual podia proferir a estranha palavra de novo: — Eu disse quietos — repeti, sentindo o poder nas palavras, embora tivessem sido ditas de modo incompreensível. — Vou matar todos vocês.
Na minha cabeça, as ameaças ganharam vida própria, e me vi liberto das amarras de couro, dirigindo-me ao próximo cubículo e permanecendo fiel à minha promessa. Era como no filme do diretor, só que, em vez dos brutamontes, da polícia e dos soldados, via a mim mesmo como predador, como vitorioso, e o mundo todo arrasado a meus pés. Minha excitação se elevava do estômago, trazendo com ela outra sucessão de risos histéricos.
Mas a voz à esquerda não desistiu. Repetia a palavra, repetia de novo, e de novo, até que se tornou um rio caudaloso de sussurros. Incapaz de retornar à minha fantasia, tentei me concentrar naquele som, extraindo o máximo sentido do que ouvia. A palavra era familiar, mas não conseguia me lembrar de onde a conhecia. Abri a boca, tentando fechar os lábios em torno dela.
— A-lex — disse eu, sentindo as sílabas como pedaços de giz contra a língua. — A-lex. Alex. Alex.
Cada vez que cuspia o som, a escuridão da mente se suavizava. A imagem de mim mesmo como um terno-preto, como um assassino, começou a desmoronar. Por um instante, vi meus pais subjugados no chão e sangrando com os ferimentos que eu havia imaginado lhes causar. A náusea me encheu o estômago como se alguém me espremesse as tripas com dedos de aço, seguida quase de imediato por uma sensação de vergonha que trouxe lágrimas aos meus olhos. Balancei a cabeça com violência para limpar até o último resquício daquele pesadelo, deixando os soluços irromper livremente.
— Alex, você tem que continuar lutando — disse a voz. Achei ter reconhecido o tom, mas não conseguia me lembrar de onde. Imaginei um garoto, vi nós dois saltando em um rio, vi que nos abraçávamos fora da solitária e nos vi escalando juntos a chaminé do incinerador, mas as memórias ligadas a essas cenas desapareciam como aves levantando voo. — Alex Sawyer. Não esqueça, está bem? Não pode deixá-los vencer. Lembre-se de Donovan; lembre-se de Monty.
Nomes que deviam significar alguma coisa, mas não significavam. Contudo, não importava. Eu tinha o meu, Alex Sawyer, e, enquanto me lembrasse dele, o diretor e seu exército não poderiam me atingir.
Pelo menos, não até que eu quisesse que me atingissem.
A VERDADE
Mais escuridão, mais sonhos.
Um depósito para animais, fileiras infinitas de jaulas imersas em sombras. Movia-me por elas, espreitando através de grades enferrujadas para ver as criaturas que encerravam, encolhidas nos cantos, amontoados de carne trêmula oscilando com a respiração. Nenhuma delas se virou para me olhar, mas não havia como deixar de ver nelas os garotos que haviam sido. Cada uma vestia o mesmo uniforme marcado com um 36 acima da cruz suástica.
Um ruído se elevou do outro lado da sala, e uma porta de metal se abriu. Antes que conseguisse encontrar um lugar para me esconder, dois homens entraram usando pesados casacos de couro e máscaras de gás e carregando um amontoado de trapos nas mãos. Olharam direto para mim, mas não havia nenhum traço de emoção naquele olhar quando deixaram cair os trapos em uma pilha no chão.
Os guardas caminharam ao longo das jaulas, ofegando através dos dispositivos atados à face. Ao se aproximarem, fiquei surpreso em ver que eram mais jovens do que eu havia imaginado, talvez na faixa dos vinte anos, mas algo nas rugas da testa e no olhar sombrio me fazia pensar que aquela juventude era falsa.
Senti algo agarrar minha pele e recuei, olhando para a jaula mais próxima. Dedos ossudos conduziam a um braço esquelético que, por sua vez, conectava-se em meio à penumbra a dois olhos brancos e arregalados. O garoto se voltou para os guardas, que se aproximavam em marcha, depois fixou em mim o olhar aterrorizado.
Você tem que nos tirar daqui, disse ele. Não temos muito tempo.
O garoto na jaula fungou, esfregando o nariz com a mão cadavérica. Inclinou-se para a frente, na direção da luz, e dessa vez reconheci de imediato minha própria face, o choque de me ver tão cadavérico fazendo a bile subir à garganta. Nunca mais vira meu reflexo desde que chegara a Furnace, mas, depois de tudo o que havia passado ali, tinha consciência de que devia estar mais parecido com esse espectro do que com o reflexo do garoto saudável de que me lembrava ao me olhar no espelho de casa.
E me odiei por isso.
Olhei para os guardas, agora quase diante de nós. Eles marchavam com firmeza e determinação, o olhar duro. Não havia fraqueza ali, apenas força, e, mais do que qualquer outra coisa, eu desejava sentir aquilo.
Por favor, Alex, disse minha versão cadavérica. Não se esqueça de quem é.
— Eu não sou Alex — respondi, e no meu sonho a voz reverberou pelo local como uma bomba detonada. Os guardas chegaram à jaula e a abriram. — Não sou Alex; ele nunca existiu. Você nunca existiu.
Você existe!, berrava o garoto, enquanto os homens o arrastavam da jaula, os músculos fracos sem energia suficiente para qualquer tipo de resistência. Você existe, Alex. Não é tarde demais.
Então ele foi embora, só mais um amontoado de trapos entre os dois guardas, que se afastavam a passos largos.
Fui despertando do sonho e senti algo frio contra o meu rosto, um pano úmido que foi afastado assim que recuperei a consciência. Meus novos olhos entraram em foco sem hesitação, revelando o diretor sentado na beirada do meu leito. Ele depositou o pano sobre o monitor cardíaco com um gesto suave, depois ergueu um copo de água e o levou aos meus lábios. Bebi com avidez, saboreando cada gota de fluido enquanto dissipava o clima desértico de minha boca.
— Vá com calma — ele falou baixinho, afastando o copo. — Faz um bom tempo desde que ingeriu algo. O corpo não consegue processar água durante os primeiros dias após a introdução do néctar. Também não consegue processar alimento.
Gaguejei algumas palavras, que se transformaram em grunhidos quando atingiram o fundo de minha garganta. A face do diretor se abriu ao me ouvir, os dentes amarelados como lápides atrás do sorriso cadavérico.
— Está fazendo um grande progresso — disse-me, apoiando o copo sobre o joelho e me fitando como um professor olharia para o aluno preferido. — Estava sonhando de novo; diga-me o que viu.
Fui arrebatado pelo redemoinho de pensamentos que espiralavam em minha mente desperta, captando uma pergunta.
— O que importa? São apenas sonhos.
O diretor riu, oferecendo-me outro gole de água, que engoli depressa demais. Regurgitei parte dele sobre o braço estendido, mas, em vez de me repreender, ele me deu batidinhas nas costas, até os espasmos cederem.
— Disse a você para ir devagar — ele falou. — Seu corpo está se modificando, por isso não pode mais fazer as coisas como costumava fazer.
Em algum lugar bem dentro de mim, as palavras do diretor dispararam um alarme, mas o veneno em minhas veias o abafou com rapidez. Ele colocou o copo em um canto no chão e esfregou o líquido da manga para secá-lo, voltando depois a atenção para mim. Podia sentir os olhos dele abrindo caminho no meu cérebro, como sempre, mas, dessa vez, em vez da náusea que normalmente produziam, a sensação fez com que me sentisse seguro, protegido.
— Não são apenas sonhos — ele prosseguiu. — São bem mais que isso. Um tanto lembranças, outro tanto pesadelos de um tempo que passou.
— Lembranças de quem? — consegui perguntar, as palavras do diretor captando a confusão de minha mente, o significado sendo distorcido antes que pudesse decifrá-lo.
— De pessoas como você — explicou ele. — Pessoas que deixaram para trás uma vida de fraqueza para se tornarem algo muito maior. Os primeiros de sua espécie, os criadores de todos nós. Já deve ter sentido um pouco disso lá em cima, nas celas. Todos têm pesadelos em Furnace, mas às vezes o néctar é tão forte que penetra o próprio ar.
Recordei os pesadelos que me assaltavam quando estava na prisão, imagens de uma cela com paredes de vidro e meu reflexo sendo o de um Ofegante.
— Mas são meros vislumbres — prosseguiu o diretor. — Fragmentos. Só quando o néctar está em seu sangue é que pode ver o quadro completo. Conte-me o que acabou de sonhar. A trincheira?
Balancei a cabeça, esforçando-me para lembrar.
— Uma sala — sussurrei. — Jaulas e guardas.
— Interessante — respondeu o diretor, acenando gravemente com a cabeça. — A transformação está ocorrendo mais depressa do que eu pensava. Você se lembra de quem estava na jaula?
Refleti, adentrando a neblina que envolvia as recordações do sonho. Havia um garoto na jaula, quase morto de fome, fraco demais para impedir que o levassem. Não conseguia lembrar o rosto, só o branco dos olhos muito arregalados.
— Um garoto — respondi por fim. — Um garoto bem fraco. Ninguém.
Dessa vez, o sorriso do diretor fazia sua face parecer ter sido cortada de orelha a orelha.
— Bom — sussurrou. — Muito bom. Você já está pronto para o próximo estágio do tratamento.
Ele fez menção de se levantar, mas murmurei mais algumas palavras, e o diretor tornou a se sentar no leito. Por um instante, a máscara caiu, e vi além da fachada; avistei o monstro que espreitava sob a pele repuxada, mas logo a nuvem negra se dissipou de minha mente, e voltei a encarar apenas seu sorriso.
— O quê? — ele perguntou.
— O néctar — falei, gaguejando as palavras. — O que é?
— Não importa o que é — respondeu o diretor sem hesitação. — Só o que faz. O néctar lhe dá liberdade, liberta seu eu primal. Mostra-lhe a verdade. Acho que está começando a entender qual é a verdade. Quem sabe já soubesse desde sempre.
Lembrei do filme, do desfile interminável de sadismo, violência e força, e o néctar dentro de mim parecia latejar com sua energia negra. Senti uma dor forte no rosto, e demorei um momento para perceber que sorria.
— Sim, você sabe — falou o diretor, como se sentisse minha euforia. — O néctar se alimenta dessas emoções e, assim fazendo, também as libera. Quanto mais você odeia o mundo, mais amargura vai sentir diante da maneira como a vida o tratou, e mais poder o néctar lhe dará. Quanto mais fraco era, tanto mais forte se tornará. — O diretor se levantou, dirigindo-se à cortina que separava meu cubículo do resto da enfermaria. — Não questione; apenas aceite. O néctar vai lhe mostrar o que realmente se passa em seu íntimo.
Antes que saísse, eu lhe fiz mais uma pergunta:
— Quem é você? — O diretor fez uma pausa e depois se virou para me encarar, a cortina branca do cubículo uma mortalha a seu redor. Naquele instante, encontrei seus olhos, poços profundos que irradiavam poder e pareciam não ter fim.
— Quem sou eu? — repetiu, ruminando a pergunta. — Sou o homem que fez você. Sou seu pai.
Então o tecido branco se franziu, e ele desapareceu, deixando-me só com um sorriso no rosto.
CARNE VIVA
Vieram me buscar enquanto eu dormia.
Abri os olhos e vi o teto iluminado passar sobre mim como um rio de pedra líquida, a maca fazendo ruído contra o chão rochoso. Ouvi o farfalhar de plástico em movimento ao ser conduzido através das tiras da cortina que demarcavam a saída da enfermaria, rumo às salas de cirurgia — os aposentos onde os Ofegantes realizavam sua mágica doentia. Não sentia medo, apesar de saber para onde ia.
E de saber com que finalidade.
Ouvi o som inconfundível de uma tranca elétrica, seguido do ruído da porta se abrindo. Um grupo de Ofegantes se alvoroçou com seus gestos desordenados na sala à frente, os cirurgiões lá dentro saudando minha chegada. Não precisava olhar para ver o rosto deles, a máscara de gás costurada na carne em decomposição, o brilho nos olhos negros e gulosos. Senti a pele enrugar ao pensar neles, mas ignorei a sensação. Afinal, não seria minha pele por muito mais tempo. Logo seria um novo homem, bem mais forte, músculos de ferro envolvidos em uma armadura de aço.
Minha cabeça pendeu para um lado quando os ternos-pretos me levantaram e me depositaram na mesa de cirurgia, e então vi o diretor entrar na sala. Ele me lançou um sorriso — expressão com a qual já estava me acostumando — e avançou.
— Bom, muito bom — ele murmurou. — Sem luta nem protesto. Você sabe que esta é a coisa certa a se fazer.
Ele desviou o olhar, e segui sua linha de visão até três Ofegantes que preparavam o equipamento, a luz de bisturis e serras de ossos refletindo-se nas paredes avermelhadas. Todas aquelas ferramentas me pareciam familiares, mas não conseguia me lembrar de onde. Por um momento fugaz, eu me vi subindo, martelo e pinos para ossos na rocha, mas a imagem não se ancorou e logo desapareceu.
— Façam um teste — o diretor sugeriu a um dos Ofegantes. — Depois comecem com as pernas.
Olhou para mim mais uma vez e sorriu, mas a maneira como a boca se retorceu para cima me fez pensar mais em avidez do que em afeição. Em seguida, a visão foi bloqueada por um terno-preto, a figura imensa amarrando meu tronco à mesa e fixando minha cabeça com uma correia. O guarda relanceou o olhar por sobre o ombro, e, pelo ruído dos sapatos, eu soube que observava a retirada do diretor. Olhou para a última fivela, dando-lhe um puxão para garantir que estava segura, depois se inclinou e colocou a boca junto do meu ouvido.
— Não vou mentir para você — falou, a voz uma pulsação sônica que me ecoou cérebro adentro. — O procedimento dói como o diabo. A sensação é de que seus membros estão sendo todos arrancados, um por um, e depois costurados de novo com agulhas quentes. Acho que essa comparação não está muito longe da verdade. Mas aguente firme a dor, porque, quando estiver pronto, será um de nós.
Algo bradou em meu peito, uma sensação que não experimentava fazia muito tempo. Não sei se havia um nome para ela, mas sabia o que significava. Eu era um deles. O terno-preto bateu amigavelmente em meu ombro, depois lançou um olhar suspeito para os Ofegantes, vendo-os se movimentar.
— Aguente firme — repetiu sem olhar para trás, e em seguida deixou a sala. Tornei a observar os cirurgiões em atividade, um paredão de couro imundo e seringas velhas e nojentas. Um deles enfiou uma agulha em meu braço, e o bem-vindo efeito analgésico do néctar me percorreu. Os outros dois ergueram equipamentos brilhantes nas luvas desgastadas, a respiração ofegante mais acentuada que o normal. Mas não me sentia apavorado. Recebia-os com prazer. Estavam ali para me dar o que eu queria.
Logo me juntaria às fileiras dos poderosos, os ternos-pretos.
Meus irmãos.
Ele não havia mentido: aquilo doeu como o diabo.
Devo ter apagado na primeira incisão, com a sensação de que alguém segurava um maçarico contra minha pele. Mas, mesmo sob um véu de adormecimento, podia senti-los trabalhando em mim, como se o néctar desejasse que eu sentisse a dor nos músculos, nos ossos; que sentisse a transformação acontecer.
A agonia encheu minha cabeça com imagens que devem ter sido lembranças, mas que não fui capaz de localizar. Vi um garoto sendo espancado até virar uma pasta de carne em um ginásio, outros garotos com crânios desenhados em bandanas enchendo-o de pontapés e socos. Vi o mesmo garoto preso nas mandíbulas de um rio espumante, só a sorte impedindo-o de ser dilacerado com o impacto nas paredes ásperas. Eu o vi cair nas chamas de um incinerador e ser retirado do fogo antes que fosse consumido por inteiro.
E aquele mesmo garoto — cujo rosto conhecia tão bem, mas ao mesmo tempo desconhecia — me perseguia em meus sonhos, implorando-me para que me lembrasse de quem eu era. Mas, mesmo enquanto os guardas o arrastavam para o esconderijo sombrio dos meus pesadelos, o garoto não conseguia dizer meu nome.
Ele também o havia esquecido.
A dor era tão intensa que consumiu todas as outras emoções. Exceto a raiva. Estava deitado sobre a mesa de cirurgia, sozinho na pequena sala, enquanto a fúria dentro de mim crescia. Era como se o calor abrasador das pernas fosse uma chama, que literalmente fazia meu sangue ferver.
Não entendia direito o que desencadeara aquele ódio em mim. Não era dirigido aos Ofegantes, nem ao diretor. E com certeza também não aos ternos-pretos. Mas sim a tudo o mais. A todas as pessoas patéticas do mundo que conduziam a própria vida com o máximo de docilidade e quietude; que não tinham ideia das forças em ação sob os pés delas. A todos os que confiavam em outras pessoas para lutar por eles, que não tinham energia suficiente para sobreviver por si mesmos. Só de pensar neles, na ideia de que costumava ser um deles, meu ser se enchia de repugnância.
Desloquei o corpo o máximo que pude sob as correias de couro, o movimento causando uma nova explosão de dor nas pernas. Não conseguia erguer a cabeça o bastante para ver o que os cirurgiões haviam feito com elas, mas, de qualquer maneira, já sabia. Seriam como imensas placas de músculos, mal contidas pela pele costurada ao redor. Assim que estivessem curadas, poderia vencer qualquer um, capturar qualquer presa. E não teria misericórdia dos que não conseguissem se defender.
Queria que aquela fase passasse, para recordar como chegara ali. Com certeza não havia sido sempre assim, tão cheio de raiva. Mas não havia nada em minha mente além de Furnace. Devia ter nascido ali, naquele lugar. Sim, aquele era meu lar, e o diretor, meu pai. No entanto, algo ainda resistia no fundo de minha mente, um pensamento perturbador que ia e vinha rápido demais para fazer qualquer sentido, como uma mosca-varejeira insistindo em forçar sua entrada de janela em janela. Havia alguma outra coisa, algo que eu tinha esquecido, algo importante.
Até que ponto seria importante? Tinha o néctar fluindo nas veias, dando-me uma força que jamais pensei possuir. E logo teria o corpo correspondente a meus pensamentos, uma máquina que nunca saberia o que era ser fraco.
Mais uma vez minha mente se agitou, e vi o garoto dos meus sonhos, seu lamento como o som furioso de asas de uma mosca-varejeira batendo contra um vidro de janela. Eu me vi entrando dentro de minha própria cabeça e expulsando aquela imagem, esmagando-a sob o calcanhar até nada restar dela, exceto um grão de areia. Não havia outro mundo, apenas aquele, apenas o meu mundo. E ali eu seria o rei.
Ri, mas os sons eram como tiros de pistola disparados pela raiva que habitava minhas entranhas. Contorci-me contra as correias que me continham, desesperado para me libertar e descontar a fúria que sentia na primeira coisa que visse. Abrindo a boca, gritei para os Ofegantes terminarem o que haviam começado, mas tudo o que saiu foi um grunhido profundo e retumbante de um leão ferido. Não importava. Não precisava de palavras, só de violência. Que importância tinham as palavras quando se era espancado por punhos cerrados? Que uso tinha a linguagem quando se ficava diante das monstruosidades do mundo?
Grunhi de novo, dessa vez usando todo o resquício de ar que havia nos pulmões. O som atingiu uma altura parecida com a de um motor a jato, tão alto que ouvi os bisturis na bandeja ao lado sacudir uns contra os outros. Tive uma sensação boa e soltei outro, um rugido demoníaco que explodiu na sala e saiu em perseguição dos próprios ecos corredor afora. Abri a boca para um terceiro, mas os pulmões já estavam sem ar, e tudo o que consegui produzir foi um uivo fraco e uma cusparada, que escorreu de minha boca.
— É uma sensação boa, não é? — perguntou uma voz vinda da porta. O diretor estava ali, um pé dentro e outro fora da sala. Exibia aquele mesmo sorriso vazio, a face artificial de um marionete, mas eu podia sentir o orgulho emanando dele. Ainda não conseguia falar, mas ele não esperava nenhuma resposta. — Sentir o poder crescendo da dor; sentir o corpo se tornar algo que a natureza jamais poderia ter criado.
Ele colocou a cabeça para fora da sala e o ouvi bradar uma ordem. Quando me olhou de novo, escutei o som de botas contra a superfície rochosa aproximando-se dele.
— Posso sentir a ânsia de poder em você, mais do que na maioria. Posso farejá-la. O mundo vai pagar pelo que lhe fez. Juntos o faremos sofrer.
O diretor deve ter percebido o brilho em meu olhar à medida que a imaginação dava vida aos pensamentos. Fez-me um aceno de cabeça, depois deu um passo para o lado, abrindo caminho para dois ternos-pretos que entravam, um deles empurrando uma maca. Com delicadeza, desataram as fivelas que me continham, erguendo meu corpo e colocando-me na maca. Enquanto o faziam, lancei um olhar para as pernas, que pareciam dois troncos de árvore envolvidos em gazes manchadas de vermelho. Latejavam de dor, mas a saboreei, pois significava que eram parte de mim.
— Fizeram um bom trabalho — comentou o diretor, alisando gentilmente as bandagens. — Logo estarão curadas.
Meus braços, tentei dizer, balbuciando apenas um resmungo.
— Paciência — falou o diretor, obviamente encantado. — O resto virá a seu tempo. Muita coisa de uma só vez seria demais para suportar. Seu corpo é jovem o suficiente para enfrentar o néctar e a cirurgia. Mas você tem genes demasiado flexíveis. E não vai querer descobrir o que acontece com eles ao serem pressionados até o ponto de fusão.
Os ternos-pretos começaram a me retirar da sala, e, quando passei pelo diretor, ele apoiou a mão fria em minha testa.
— Descanse, e sonhe com a escuridão — falou. — Não vai demorar muito.
Afastou a mão, mas eu ainda era capaz de sentir o toque frio dos dedos ao transpor a porta e avançar pelo corredor.
Ouvi o ruído na enfermaria muito antes de a alcançarmos. Alguém gritava lá dentro, não de dor, e sim de raiva. O som era alto o bastante para fazer meus ouvidos tinir enquanto os ternos-pretos empurravam a maca através da cortina de tiras de plástico.
Virei a cabeça para olhar melhor e vi as cortinas de um dos cubículos se ondular e formas indistintas entrar lá. Outro grito, depois o ruído abafado de um punho contra a carne de um corpo.
— O número 195 de novo — grunhiu um dos ternos-pretos a meu lado, correndo também para o cubículo e desaparecendo atrás da cortina. O outro guarda me conduziu pela superfície rochosa, resmungando algo ininteligível. Foi quando se preparava para me erguer da maca que irrompeu o caos.
Outro grito explodiu de trás da cortina, e em seguida um terno-preto caiu para trás através dela. Levantou-se e cambaleou, um filete de sangue escuro escorrendo do nariz. Depois atingiu o chão duro, atacado por espasmos que o fizeram parecer um inseto pisoteado lutando para se recompor.
Praguejando, o terno-preto que me carregava me colocou de volta na maca e correu tão rápido pela sala que mais me pareceu uma mancha de carvão avançando contra a série de cortinas brancas. Não teve sequer chance de entrar no cubículo antes que um braço de músculo sólido lhe cortasse o caminho com um soco, atingindo-o na mandíbula e fazendo a cabeça girar com um ruído que poderia ser o da própria terra se rachando ao meio. Despencou como um saco de tijolos, a luz desaparecendo depressa dos olhos prateados.
Sentei-me, a raiva dentro de mim se extinguindo por força do medo. De trás da cortina veio outro grito, dessa vez mais baixo. Ouvi algo se rasgar, como uma asa sendo arrancada de uma galinha cozida, e um rastro vermelho surgiu na cortina branca.
Atrás da linha vermelha e gotejante que chegava ao chão, pude distinguir uma silhueta enorme avançar para a frente. Estendeu o braço e puxou a cortina para um lado, revelando algo muito grande, mas por certo também muito desfigurado para ser um rosto. Olhos como moedas polidas piscaram em busca de foco, baixando para os ternos-pretos no chão e depois erguendo-se lentamente para me encarar. E, com aquele olhar, algo veio fluindo de muito longe. Eu o conhecia; era-me familiar o brilho frio e sem alma daquele olhar. Em minha mente, via um garoto que um dia me aterrorizara muito mais que qualquer Ofegante; um garoto que tirava vidas com a tranquilidade despreocupada com que alguém quebraria palitos de fósforo.
Gary Owens.
Ouvi gritos vindos do exterior da enfermaria, o soar de botas no chão de pedra. Mas não conseguia desviar os olhos da criatura à frente. Ela abriu caminho através da cortina, e vi um corpo de carne cheia de calombos, músculos se salientando como galhos retorcidos de um carvalho, tudo mal coberto por uma camada de pele costurada. Enquanto o observava, algo pareceu inchar sob a carne, os braços se inflando como se alimentados pela pressão de uma mangueira de água.
Uma caverna de escuridão se abriu no centro do rosto dele, libertando outro grito infernal. Antes de este terminar, a criatura já saltava sobre mim, a própria rocha vibrando diante de tamanha força. O pânico tomou conta do meu corpo, impelindo-me para fora da maca antes que pudesse ao menos pensar no que fazia. Atingi o chão preparado para correr, mas, assim que pisei, a dor invadiu minhas novas pernas, subindo por toda a espinha. Caí esparramado sobre a pedra fria, mal encontrando forças para olhar por sobre o ombro e encarar a morte.
A criatura golpeou a maca com uma mão gigantesca, fazendo-a voar pela sala. Um segundo depois, estava sobre mim, os dedos como ferro em brasa em torno do meu peito. Levantou-me como se eu não pesasse nada, atraindo-me para bem próximo do poço que era sua boca. Foi como se o medo tivesse extraído o néctar do meu corpo, pura adrenalina expulsando o veneno das veias. Enquanto pendia das mãos da criatura, o denso véu que envolvia minha mente foi afastado, e me lembrei de quem era e de onde tinha vindo. E, com esse conhecimento, veio também a linguagem.
— Gary — sussurrei, a palavra pouco mais que uma expiração. Inalei mais ar e tentei de novo: — Gary, lembre-se do seu nome.
A criatura se deteve, os olhos de platina entrando e saindo de foco, como um homem cego aprendendo a enxergar. A respiração era entrecortada por acessos curtos e furiosos, carregando consigo o fedor da decadência que o habitava.
— Gary — repeti. — Gary Owens. Esse é seu nome.
Passos ritmados atingiram um crescendo, até que ternos-pretos adentraram a sala. A criatura olhou para cima e gritou de novo, inundando-me com um fedor tão rançoso que tive de vomitar. Senti os dedos se apertar, minhas costelas se curvando sob a pressão. Pontos negros começaram a aparecer em minha visão periférica, borrando tudo, tal qual uma fotografia ainda prestes a ser revelada.
O primeiro tiro fez a criatura se inclinar para trás. Um de seus braços deu um solavanco com o impacto, e me vi no ar, espatifan-do-me no chão antes de rolar para dentro de uma das cortinas. Olhei para cima, tentando me localizar na sala que girava, e vi a criatura receber outro tiro direto no peito. A carne explodiu, mas podia muito bem ter sido apenas uma picada de abelha, tal o rugido de desafio ao se lançar na direção dos guardas.
Dessa vez, eles estavam preparados. O terno-preto mais próximo disparou a arma de novo, destruindo as pernas da criatura. Outros dois correram para a frente com uma barra que terminava em um laço móvel e soltava faíscas de eletricidade. Antes de aquela criatura estranha poder se levantar, o fio de metal foi enrolado em seu pescoço, a pele sendo dilacerada quando a descarga elétrica atingiu seu corpo. Após algumas tentativas de se levantar, a criatura se deixou cair frouxamente no chão, os braços se contorcendo em vão.
Dois dos ternos-pretos correram para checar os companheiros abatidos, o balançar da cabeça ao pressionar o pescoço deles deixando óbvio que nunca mais se levantariam. Só então pareceram me notar, o mais próximo dos guardas vindo a passos largos.
— Deixem-no. — As palavras vieram de outro canto da sala, soando como se fossem fel. Olhei ao redor, localizando o diretor, todo resquício de sorriso tendo agora se apagado da face enrugada. Inclinou-se sobre mim, e pude sentir os olhos me inundando como uma ducha de água fria. Encolhi-me diante dele, ficando o mais longe possível, enquanto arrepios me percorriam a pele.
— Que decepção — ele grunhiu, antes de voltar a atenção para Gary. Ou para a coisa que um dia havia sido Gary. — Remendem o número 195. Levem-no à prisão esta noite e deixem-no saciar a sede de sangue com os velhos companheiros de cela. E, quando voltar, certifiquem-se de que fique preso.
Agachou-se, agarrando meu queixo com seus dedos lisos.
— Achei que havia deixado sua vida antiga para trás — ele sussurrou, os olhos como buracos negros, uma ponte para o abismo da alma. — Se você se lembra do nome dele, suponho que também se lembre do seu. Bem, acho que vamos ter de nos esforçar um pouco mais para destruir essa sua mentezinha patética. — Usou a outra mão para golpear repetidas vezes minha têmpora, antes de me deixar prostrado no chão e se levantar. — Levem este verme de novo para a sala de avaliação. Tranquem-no lá por dois dias e dobrem a alimentação.
O diretor deixou a sala irritado, só olhando para trás uma vez ao atingir a porta principal da enfermaria, gritando para os ternos-pretos:
— E limpem essa sujeira!
BRAÇOS
Minha cabeça era uma zona de guerra, lembranças de uma antiga vida que havia quase esquecido lutando contra as fantasias de poder que tinham ameaçado me consumir. Esforcei-me para extrair sentido das coisas, mas a confusão era grande demais, uma massa efervescente de imagens e pensamentos que ameaçavam me deixar louco.
— Meu nome é Alex — falei a mim mesmo quando um terno-preto voltou com a maca e outro me levantou e me depositou nela. As palavras eram quase cuspidas dos meus lábios e não faziam sentido, soando a meus ouvidos como uma linguagem estranha. Mas sabia que deveria continuar a dizer aquilo. — Meu nome é Alex. Meu nome é Alex. Meu nome é...
Uma mão enluvada cobriu com tal força minha boca que comecei a respirar com dificuldade. Investi contra ela enquanto os guardas me carregavam pela enfermaria, mas a pressão era muito poderosa.
— Mais uma palavra, e logo vamos ver quanto tempo vai resistir a uma espingarda — disse um dos guardas, a cabeça se projetando através das tiras de plástico da cortina que conduzia à sala de cirurgia. — Você recuperou algumas lembrancinhas desagradáveis que não querem ir embora. Bem, é melhor que saiam logo da sua cabeça, ou vai acabar ali.
Fez um gesto na direção de uma porta de aço no fim do corredor, e me lembrei de uma sala repleta de cadáveres e de um fogo incandescente. Ignorei as advertências, tentando esboçar mais palavras, mas ele pressionou sua mão com tal força em minha boca que senti os dentes cortar a parte interna dos lábios.
— É isso que acontece com os que não conseguem esquecer — continuou o terno-preto com seu sorriso de tubarão. — Nós os queimamos com o resto do lixo.
Era capaz de recordar o tormento das chamas em minha carne, a lembrança da dor sendo suficiente para me manter de boca fechada. Viramos à direita no entroncamento, seguindo pela superfície irregular até alcançarmos outra porta. Ela se abria para a mesma sala onde tinha sido trancado antes, aquela com a tela, e, embora entrasse em pânico diante do pensamento de ter os olhos novamente imobilizados com o alfinete, estava impotente para impedir os ternos-pretos quando me amarraram na cadeira.
— Se tiver de manter uma coisinha que seja nessa sua cabeça, que seja isto — grunhiu o homem gigantesco ao erguer minha pálpebra. — Ou você é um de nós, ou um deles. E, acredite-me, não vai desejar tomar a decisão errada.
Afastou-se para o lado a fim de permitir a entrada de um Ofegante, e senti mais uma vez a picada da agulha. Dessa vez, o néctar penetrou em mim como se eu estivesse vazio, preenchendo-me dos pés à cabeça com sua nauseante escuridão. Minha boca se abriu, um lamento fraco como o de um pássaro agonizante sendo o único protesto que pude fazer enquanto aquelas criaturas estranhas deixavam a sala.
Antes de chegar a Furnace, jamais poderia ter imaginado que houvesse tanto horror no mundo. Mas ali estava ele, do celuloide à tela em um brilho mortiço, aparentemente todo ato de violência sem lógica que já havia sido cometido. Era um filme diferente do último: não havia animais dessa vez, apenas seres humanos. Mas as coisas que faziam uns aos outros eram crimes que nem mesmo as feras mais bestiais infligiriam aos inimigos.
Tentei mais uma vez fechar os olhos, desviar o olhar, pensar em outra coisa que não o pesadelo que se desenrolava diante de mim. Mas não conseguia fechar as pálpebras em brasa; não conseguia mover a cabeça. E, quando os piores medos desfilam infinitamente diante de você, como obrigar sua mente a se desviar deles?
Não sei quanto tempo fiquei ali até as imagens começarem a saltar da tela, suspensas no ar como se eu usasse óculos 3-D. Era como se a loucura do que via ali fosse demais para ser contida; como se transbordasse do ponto de origem e inundasse tudo o que a cercava. Era uma alucinação, eu sabia; o néctar me fazia ver coisas que não estavam ali. Mas, à medida que os punhos voavam, as armas disparavam e os corpos caíam ao redor, era como se eu estivesse de pé no meio de um furacão de carnificina e crueldade e um turbilhão violento atacasse minha mente e a fizesse explodir em pedaços.
E não demorou muito até minhas defesas estarem totalmente destruídas. Uma por uma, as cenas do filme rasgavam o ar e penetravam minha mente, expulsando todos os outros pensamentos. Lutei para não esquecer meu nome, as lembranças que tinham retornado quando vira Gary e o que ele havia se tornado. Mas o néctar era um piche que cobria minha antiga vida, ao qual as imagens na tela aderiam sem resistência. Nenhum resquício de memória foi poupado. Para qualquer lugar que olhasse, só via agressão, raiva, morte.
E, se nada mais restasse a não ser escuridão, como poderia não me tornar um monstro?
Quando se veem coisas que não estão ali, não há diferença entre estar acordado ou dormindo. Olhei para baixo e vi que as tiras de couro estavam frouxas, portanto devia estar sonhando. Minhas suspeitas foram confirmadas quando corri até a porta e, abrindo-a, dei de cara com o Armagedon.
De início achei que estivesse lá fora, mas, antes que a euforia pudesse se elevar em um bolo estômago acima, soube que era uma ilusão. À minha frente, estendendo-se a um horizonte perdido na escuridão, abria-se um campo lodoso. Acima dele, onde o céu deveria estar, agitava-se uma fumaça avermelhada, tão espessa, que podia muito bem ser feita de pedra.
A terra úmida estava recoberta de formas que podiam um dia ter sido seres humanos, como um cemitério em que os mortos, por algum motivo, se amontoassem na superfície. Distribuídas a intervalos irregulares encontravam-se imensas crateras, algumas cheias de água até a metade, como lagos de água estagnada. Enquanto observava, algo despencou do céu denso, explodindo em uma bola de cor ardente ao atingir a terra. Caía uma chuva escura, carregando com ela uma enxurrada maciça de pedras e ossos.
Quando a luz da bola de fogo irrompeu, vi as formas na lama começar a se mover. Arrastavam-se para a frente em movimentos lentos, e, sob a imundície que as cobria da cabeça aos pés, consegui distinguir uniformes de tecido gasto, capacetes redondos de metal e cintos carregados de equipamento. Cada uma daquelas formas retorcidas carregava um rifle em uma das mãos ossudas, mantendo-o apontado para o horizonte distante, para um inimigo oculto.
Outra explosão sacudiu a terra, arremessando para longe uma pedra e lançando mais fumaça no céu avermelhado. Delineadas contra as chamas viam-se três figuras, que marchavam pela lama sem vacilar um só passo que fosse. Estavam vestidas com um casaco de couro e tinham uma máscara de gás presa ao rosto. Duas levavam uma maca, enquanto a terceira examinava o chão com olhos atentos e brilhantes, como um falcão em busca de uma presa.
Detiveram-se ao lado de uma forma retorcida em meio à sujeira, próximos de mim o bastante para que eu distinguisse um garoto ali. Seu uniforme encontrava-se em farrapos, a lama disfarçando as feridas que haviam se aberto sob o tecido. Ele olhou para cima, pousando os olhos na criatura sobre a maca, e achei que ficaria aliviado ao vê-la, contente diante da possibilidade de deixar aquela podridão.
Mas, quando viu os homens que o carregavam, a respiração ofegante audível mesmo contra o fundo de disparos e de ruído das metralhadoras, começou a gritar.
Não estou ferido; posso lutar!, ouvi a voz dele. Embora não soubesse aquela língua, podia compreendê-la. Os homens não responderam; apenas baixaram a maca no chão e passaram a tirar os farrapos de roupa úmida e imunda do garoto. Ele se debateu, mas, apesar da resistência, estava fraco demais para detê-los. Segundos mais tarde, estava amarrado na maca, e os máscaras de gás o carregavam rumo à escuridão. Eu os vi ir embora, as faixas vermelhas amarradas nos braços adornadas por suásticas.
Ao partirem, os gritos do garoto foram a última coisa a desaparecer enquanto era carregado para longe dali, levado para um lugar bem pior do que aquela paisagem de loucura e lama.
Não me recordo de ter deixado a sala de projeção, embora deva ter saído de lá, porque, na próxima vez que acordei, pude sentir nos braços a mesma dor lancinante que me atingira nas pernas. Olhei por cima dos ombros e avistei duas placas de carne, tão imensas que as bandagens sanguinolentas ao redor ameaçavam se romper.
Flexionei os novos músculos, desfrutando da força que conseguia perceber por trás da dor. Não eram o tipo de membros usados para cobrir o rosto e se proteger de uma bola, choramingando, e sim membros de alguém que inspira medo nos inimigos; eram armas de um sobrevivente, de um matador.
Livrando-me da névoa de sono, movimentei a cabeça para olhar em torno e notei que estava de volta ao cubículo na enfermaria. No entanto, em vez de me encontrar em um leito, estava deitado, quase na vertical, dentro de um caixão de metal inclinado contra a parede. Soldadas no aço escuro, havia grossas correntes que prendiam meus braços, pernas e peito. Tinha plena consciência, sem sequer tentar, de que não teria nenhuma chance de rompê-las, apesar do reforço dos músculos.
Algo com relação ao sarcófago fez soar um sino distante em minha memória, mas o veneno — ainda gotejando para minhas veias das bolsas de soro a meu lado — desvanecia qualquer pensamento, e a inquietação que me incomodava logo se dissipou como bolha no piche. Tentei pensar em meu sonho, em qualquer coisa que tivesse acontecido antes de eu acordar, mas a mesma névoa impenetrável revestia tudo.
— Não está funcionando... — A voz era fraca, embora próxima, vindo talvez do cubículo ao lado. Deixei a cabeça pender, tentando decifrar as palavras sussurradas. — Dobre a alimentação dele e, se não funcionar, mande-o para o incinerador. Não estou disposto a desperdiçar mais nenhuma gota de néctar em uma causa perdida.
Houve uma resposta abafada, mas, ainda que tivesse conseguido decifrar alguma palavra, o restante permaneceria incompreensível em meio ao ruído de uma respiração ofegante. Ouvi o som de uma cortina se abrindo, seguido de passos. Então o espaço branco à minha frente se abriu para revelar a face do diretor. Por um segundo, encontrei seu olhar e, de repente, estava de volta à sala de projeção — uma procissão doentia de imagens mórbidas perpassando minhas retinas. Desviei o olhar, e o mundo voltou ao devido lugar.
— Você está acordado — ele comentou, entrando no cubículo. Não o encarei para ver se sorria ou não, e ele também não fez nenhum esforço para se aproximar. — Durante algum tempo, não tive certeza se você conseguiria. Eles o alimentaram com mais néctar do que achei ser possível. Fico pensando... você sabe quem você é?
Pressionei a penumbra de minha mente em busca de uma resposta, mas a verdade era que a pergunta do diretor não fazia nenhum sentido. Eu era eu, e estava em transformação para algo melhor — e isso era tudo. Balancei a cabeça, cada um dos movimentos lento e exagerado.
— Que tal um nome? — perguntou o diretor. — Você tem um?
Mais uma vez lutei contra a confusão, tentando entender o que ele queria dizer com aquilo. Sabia o que era um nome, é claro, mas, quanto ao meu... Com certeza ainda não havia precisado de um, porque tinha acabado de nascer. E naquele mundo, onde a força era tudo, de que me serviria um nome? Qual seria a necessidade de um nome para identificá-lo se você podia ser definido por sua força? Balancei a cabeça mais uma vez.
— Bom... bom — respondeu o diretor. — Você conseguiu, afinal. É um sinal positivo. Os que resistem mais dão mais trabalho, mas, quando conseguem, é para valer. Como estão os braços?
Doendo, eu queria dizer, embora minha boca se recusasse a articular as palavras, emitindo, em vez disso, um longo e baixo grunhido.
— Parecem fortes — prosseguiu o diretor. — Já estão curados. Sabe, uma operação como essa mataria o adulto mais saudável, mesmo que fosse um atleta, ou um soldado. Ainda que tivesse o corpo cheio de néctar. A genética humana é realmente milagrosa. Se pudesse ver no que está se tornando...
Eu sabia em que estava me tornando. Seria mais forte, mais rápido, melhor. Não precisava ver, porque sentia em cada fibra, em cada nervo dolorido.
— Só falta um procedimento — veio a voz, uma onda de névoa, mas densa como o aço. — O mais difícil, embora também o mais compensador. Mais uma cirurgia, e a transformação estará completa. Então lhe daremos um teste para ver até onde você chegou.
Observei as pernas do diretor darem meia-volta e moverem-se na direção da cortina, mas ele fez uma pausa antes de sair.
— E para ter certeza de que não há como voltar atrás.
INTRUSOS
Esperei por esse procedimento final com a palavra assassinato gravada na mente.
Acorrentado na posição vertical em meu sarcófago de metal, com lamentos e respirações ofegantes ao redor, não via a hora de poder me livrar das correntes e dar vazão à minha força recém-descoberta. Ninguém estaria seguro, porque agora eu era o predador e os demais seriam minhas presas. Muito sangue espirraria por ali, e não seria o meu.
Quando tivesse energia suficiente testaria os novos músculos, sentindo o poder adquirido pela carne inchada. Não sabia o que tinham feito comigo — se meu corpo se expandira, exibindo tendões de aço salientes sob a pele, ou se o tecido de alguma outra pessoa havia sido enxertado no meu. Mas não importava. Agora possuía um poder brutal que poderia estilhaçar o mundo se assim quisesse.
Fluiu para minha cabeça a figura de um garoto — o mesmo que às vezes via em sonhos. Ele era pálido, braços e pernas parecendo gravetos, as costelas aparentes mesmo sob o macacão da prisão. Uma parte distante de mim, soterrada bem fundo sob um lago de veneno, sabia que de algum modo um dia eu havia sido esse menino. Entretanto, a única emoção que esse conhecimento produzia era uma intensa náusea.
Como eu fora capaz de ser tão fraco? Tão patético? O espectro mirrado que se queixava em silêncio em minha mente não era adequado à vida. Não a merecia. Por isso havia morrido — para que eu pudesse nascer. A criança tinha ido embora; seu nome havia sumido. Tudo o que existia agora era eu, a besta que se desenvolvera de seu cadáver.
Soltei uma risadinha grunhida, ouvindo o som retumbante reverberar no ambiente rochoso como trovões. Ninguém jamais me desrespeitaria de novo. Ninguém jamais me provocaria ou levantaria um dedo sequer contra mim.
Palavras distantes me distraíram dessas fantasias, e deixei a cabeça pesada tombar para o lado. Soluços e gritos de gente em choque eram ouvidos com frequência na enfermaria, mas palavras eram raras. Em particular ordens sussurradas e urgentes como aquelas. Procurei ouvir o ruído dos sapatos do diretor, a respiração de um Ofegante, mas, além da sinfonia de respirações entrecortadas aumentando e diminuindo, não havia nada.
— ... depressa... — consegui compreender, o som de metais se chocando. — Ande logo... corte a outra.
Ouvi o ruído do couro contra a pedra, e depois o som de passos. Senti os batimentos cardíacos se acelerar, o néctar adquirindo vida nas veias. Agarrei as correntes que me continham e tentei rompê-las das fundições de aço. Não tinha ideia do que acontecia lá fora; só sabia que queria participar daquilo. O metal rangeu em protesto, mas se manteve firme.
— Onde estão os outros? — perguntou uma das vozes.
— Não há tempo!
— Encontre-os...
Mais passos e respirações pesadas evidenciando pânico, depois o som de cortinas sendo puxadas. Os ruídos ficaram mais próximos, até parecerem estar bem à minha direita.
— Você está bem? Rápido, corte as correias.
Uma resposta incompreensível, e em seguida o ruído de uma lâmina cortando o couro. Ouvi mais palavras que não consegui discernir, depois algo pálido e fantasmagórico puxando a cortina do meu cubículo. Abri a boca e soltei um grunhido gutural, que enviou a face preocupada de novo para fora do cubículo.
Segundos depois, ela voltou, e havia mais duas em sua companhia. Eu conhecia aqueles rostos, embora, ao mesmo tempo, me fossem totalmente estranhos. O primeiro era parte garoto, parte besta, um dos braços grotescamente musculoso, assim como os meus. Os olhos prateados estavam arregalados de surpresa, e ele balançou a cabeça como se eu fosse um pesadelo em carne e osso. Os dois garotos que estavam de pé e próximos dele eram minúsculos em comparação e não pareciam ter sido modificados.
— Jesus — disse um deles, passando uma das mãos pelo cabelo. Ele havia atingido uma nova escala de palidez durante o tempo em que ficara ali de pé.
— Temos que ir — falou o menor. — Os Ofegantes vão voltar a qualquer momento.
— É ele? — perguntou o garoto com um dos braços gigantescos. O outro menino deu um passo à frente, e puxei as correntes de novo, grunhindo. Que direito tinha ele de me olhar daquele jeito, como se eu merecesse piedade? Ele era o fraco; todos eles eram. Fracos e incompletos. Se conseguisse me livrar das correntes, poderia lhes mostrar o que era ter força, o que era ter poder. Os três se encolheram diante do som do meu grunhido, mas não saíram do lugar.
— Simon, o que faremos? — perguntou o mais jovem. — Podemos tirá-lo daqui?
— Não — respondeu o maior. — Ele já se foi. Olhe para isto, Jesus do céu. Nunca vi tanto néctar enfiado em uma veia.
— Não podemos abandoná-lo — protestou o terceiro garoto. Examinei seu rosto e fiquei surpreso ao ver que cada traço de fraqueza havia desaparecido. Aquela expressão parecia talhada em pedra, o olhar determinado e feroz enviando calafrios à minha espinha. Sabia disso, porque já me sentira daquele jeito uma vez. Uma lembrança navegou através do néctar como uma baleia tentando romper a superfície de um mar congelado. Não conseguia captá-la em sua totalidade, mas já havia estado naquela situação antes. Só que... só que havia sido diferente.
O garoto desapareceu no cubículo ao lado e retornou um segundo depois com algo nas mãos. Não podia virar por completo a cabeça, a ponto de conseguir ver o que era, mas de algum modo eu sabia.
Era um travesseiro.
— O que vai fazer? — perguntou o garoto menor. — Por acaso não vai...
— Ozzie, cale a boca — cortou aquele que eles chamavam de Simon. — É a única coisa que podemos fazer. Ele já era.
O garoto com o travesseiro avançou um passo, e senti o terror me invadir. Puxei de novo as correntes, mas elas eram dedos de aço sólido que me continham irremediavelmente. Abrindo a boca, gritei, mas o que saiu foi como o ruído de um motor a jato. O garoto não se deteve, sem desviar os olhos dos meus.
— Alex, ainda está aí? — perguntou ele. — Porque, se estiver, me faça saber já, neste exato momento.
Grunhi de novo, contorcendo o corpo na direção dele, na esperança de que as correntes se rompessem. Não havia nada chamado Alex ali; havia apenas eu, e iria matar aquele garoto assim que pudesse. Mataria todos eles. Eu era o poderoso, o predador. E eles, nada além de pele flácida sobre ossos, nem sequer dignos de serem presas. Senti a face se abrir diante daquele pensamento, o sorriso exibindo o desdém de um leão que sabe que está prestes a se banquetear.
— Vamos, Zê, se apresse. Posso ouvi-los se aproximando.
Zê. Conhecia aquela palavra, aquele nome, embora não conseguisse saber de onde. Aquela informação fluiu diante de mim como um retalho de seda na água, cercada por pensamentos e imagens dos quais não conseguia extrair sentido. Quase captei um — o garoto chamado Zê em um elevador, comigo e com dois outros, todos sendo conduzidos para as entranhas da Terra —, porém, quando aquilo tomou forma, senti o travesseiro sobre o rosto.
Quase ri diante do pensamento de que poderia ser morto por uma arma tão patética. Tentei respirar, mas os pulmões estavam vazios. Resisti, balançando a cabeça para a frente e para trás, mas o garoto devia ter colocado todo o seu peso sobre meu rosto, pois o travesseiro não se movia.
— Sinto muito — ouvi-o dizer. — Perdoe-me, Alex.
Lutei para respirar, sentindo o pânico se irradiar dos pulmões ávidos. Tudo o que o travesseiro me dava era poeira e um fedor de doença. Se conseguisse ao menos ficar com um braço livre, teria uma chance — poderia matá-lo antes que me matasse.
— Oh, Deus, eles estão aqui — disse um dos outros, as palavras com o som familiar de uma respiração ofegante ao fundo ecoando pela enfermaria. Tentei gritar de novo, atrair a atenção do máscara de gás, mas meu grito foi silencioso. Senti o travesseiro ser pressionado com mais insistência e ouvi os garotos discutir entre eles enquanto os Ofegantes se aproximavam. Com o tecido ainda contra o rosto, senti a visão escurecer aos poucos, os sons desaparecendo como se tivesse algodão no ouvido.
— É tarde demais. — A voz vibrou na letargia do meu cérebro, e de repente a escuridão havia ido embora. Vi-me diante da face retorcida de um Ofegante. Uma de suas mãos envolvia a garganta de Simon, e a outra agarrara o pescoço de Zê. O garoto menor estava encolhido como uma bola no chão, gritando repetidamente as mesmas palavras: — É tarde demais. É tarde demais. É tarde demais.
E era. Embora os garotos lutassem para se libertar, os ternos-pretos correram para a enfermaria, os ferozes olhos prateados na mira de suas espingardas. Voaram até o cubículo como um tornado negro, o golpe das armas fazendo os garotos tombarem como pinos de boliche. Estavam rendidos antes mesmo que pudesse recuperar minha primeira respiração entrecortada.
— Levem-nos de volta aos leitos — falou um terno-preto, limpando a sujeira da arma e a apontando para Simon e Zê.
Antes que qualquer um deles fizesse menção de se mover, ouviu-se o som dos sapatos do diretor ao fundo da sala. Os ternos-pretos se empertigaram, o rosto petrificado diante da tempestade que se aproximava.
— O que foi agora? — ecoou a voz. Ele apareceu diante das cortinas abertas do meu cubículo, e virei o rosto antes que nossos olhares se encontrassem. — É demais pedir um pouco de ordem por aqui? Vamos, levem-nos de volta antes que o alimento seja muito danificado. E, quanto a este garoto, descubra como entrou aqui e se há mais deles lá fora. Quando pedi que fortalecessem a segurança deste perímetro, referia-me exatamente a isto.
Senti seu olhar deslizar de Ozzie para mim com a agilidade de uma aranha.
— O que aconteceu com o número 208? — perguntou ele, a voz direcionada a mim.
— Acho que os garotos tentavam matá-lo — respondeu um dos ternos-pretos. — Do mesmo modo que mataram o número 191.
— Algum dano? — Dessa vez foi um Ofegante que respondeu, embora não houvesse palavras no rugido úmido e pigarreado. O diretor deu um passo à frente. — Descubra se houve dano cerebral. Não sei quanto tempo ele ficou sem oxigênio. Parece mais fraco do que estava.
Minha fúria me fez erguer a cabeça antes de ter consciência do que fazia. Mais fraco? Nem o diretor tinha o direito de se referir a mim daquela maneira. Encontrei os olhos dele e senti o mundo me dilacerar em tiras, como se alguém arrancasse um papel de parede, vendo o toque frio da morte nos poços vazios de suas pupilas. Mas não desviei o olhar. Mantive-o, até sentir minha alma prestes a ser arrancada do corpo, ainda vibrante graças ao sopro do demônio que se apossara dele. Só então, quando a última gota de força foi extirpada de mim, deixei a cabeça pender.
— Bem, parece que ele não está mais fraco — constatou o diretor —, só mais zangado. Bom, muito bom. Logo você vai ter a chance de se vingar.
Ele abriu passagem para os ternos-pretos, que saíam arrastando suas presas pelo chão. Embora eu não tivesse energia suficiente para me mover, meu olhar cruzou com o do garoto chamado Ozzie enquanto ele era levado dali. Os olhos dele estavam distantes e sem foco, a boca proferindo em silêncio aquelas mesmas três palavras. Então uma mão gigantesca engolfou sua cabeça, e ele foi erguido e retirado da minha linha de visão.
— Depois que interrogar o intruso, leve-o para a câmara. — A voz do diretor foi ficando mais fraca à medida que se afastava, mas eu ainda compreendia o que ele estava dizendo. — Assim que o número 208 tiver sido submetido ao procedimento final, podemos testá-lo no garoto. Veremos então o tamanho do poder que a raiva lhe deu.
Houve mais palavras, mas vinham de muito longe. Não importava. Tinha entendido o que o diretor dissera. Mais um procedimento, e eu estaria livre. Nada me impediria então de destruir a vida daqueles que tinham tentado me matar.
NÚMERO 208
No sonho, estava deitado próximo do mesmo garoto que havia assombrado meu sono desde que o néctar entrara em minhas veias. O corpo, só pele e ossos, fora amarrado a uma mesa de cirurgia, uma lasca de nada se comparado à minha forma musculosa quando estive deitado ao lado dele. Achei de início que a sala em que nos encontrávamos estava vazia, mas então a escuridão passou a ter movimentos, e percebi que havia Ofegantes ao redor, os membros distorcidos parecendo insetos deslizando pelas paredes escuras.
— Chegou a hora — disse o garoto, aquele que eu sabia que um dia havia sido eu. O rosto dele permanecia calmo, mas, sob o macacão em farrapos, podia ver as costelas salientes, como pedras recobertas de neve, subir e descer muito depressa. Ele estava apavorado, e, mesmo em meio à névoa do sono, aquilo me encheu de raiva.
— Chegou a hora de quê? — perguntei, e saiu um grunhido tão profundo que fez a mesa sob meu corpo vibrar.
— A hora de me abandonar para sempre — respondeu o garoto, e pude notar que tentava conter as lágrimas. — Se é isso o que você quer...
Antes que eu pudesse responder, alguns Ofegantes se aproxima-ram em seus movimentos vacilantes de marionetes. Vários deles agarraram braços e pernas do garoto, mas nenhum desgrudou os olhos de mim.
— Não quero mais ser você — respondi, enquanto um dos Ofegantes tirava um bisturi da bandeja ao lado da mesa. — Você é um fraco. É patético.
— Está enganado — respondeu o garoto, e enfim o medo venceu sua apatia, e ele passou a lutar. O resto das palavras veio em acessos curtos e agudos, enquanto se debatia para se desvencilhar dos braços que o seguravam. — É uma ilusão. Eu não era forte, mas pelo menos conseguia pensar por mim mesmo. Você é que é fraco; está permitindo que vençam você. Mas ainda pode detê-los.
Encarei suas pernas, nada além de palitos de fósforo, o branco dos olhos tão brilhante que daria para iluminar toda a sala. O pensamento de que ele ainda estava em algum lugar de minha cabeça, vivo mesmo depois de tudo o que tinham feito comigo, fez meu estômago revirar. Ele não tinha o direito de estar ali. Eu havia acabado com ele.
— Por favor, Alex — suplicou o garoto. — Não quero morrer.
O Ofegante baixou o bisturi na direção do peito do garoto e pousou a mão acima de seu coração. Então ergueu os olhos gulosos para mim e fez um aceno com a cabeça.
— Você já morreu faz muito tempo — falei, assistindo enquanto a lâmina do bisturi desaparecia dentro da pele do garoto, um gêiser de sangue atingindo o céu como um último apelo por liberdade. O garoto gritou, e, por mais que quisesse vê-lo morrer, não conseguia me obrigar a assistir à sua morte. Virei para o lado, o olhar perdido na luz artificial do teto até o último suspiro dele desaparecer.
Ouvi um ruído de passos; eram os Ofegantes que se aproximavam de mim. Não ofereci resistência quando o açougueiro pressionou seu bisturi gotejante contra meu peito. Houve dor, mas ela não era novidade para mim, e apenas me encolhi ao contato da lâmina. Aquilo era um sonho, então não havia ossos sob a pele, apenas um espaço oco estufado com palha e galhos — quase como um ninho de passarinho. O Ofegante colocou o coração do garoto em seu novo lar, o órgão ainda pulsante, apesar de não ser bombeado por nada.
— Estou pronto? — perguntei, observando outro Ofegante enfiar um arame cirúrgico através de uma agulha em gancho e começar a me costurar. Não respondiam com palavras, mas eu podia perceber pelos olhos brilhantes que o trabalho chegara ao fim. O último ponto foi dado, e eles recuaram.
Olhei para o garoto largado na mesa, os olhos sem vida parecendo fitar o Universo mais de um quilômetro acima dele. Não havia espaço neste mundo para um garoto como ele — para o garoto que eu havia sido um dia. Só existia espaço agora para a criatura que tinha nascido dele.
Levantei um dos braços e senti o ziguezagueado firme de pontos que marcava meu peito. Aquele menino tinha sido sacrificado para que eu pudesse viver. O coração dele agora era meu. Finalmente estava completo, inteiro.
Mas, mesmo no sonho, não conseguia afastar a sensação de que, apesar das camadas e camadas de músculo que me envolviam e do coração roubado que tinham assentado em meu peito, estava vazio por dentro.
Houve um momento em que o universo do sonho e o da vida real pareceram se sobrepor. Sentia-me agitado, vendo os Ofegantes de-saparecer ao imergir no sonho. Olhei para o corpo do garoto uma última vez, mas, depois de apenas um piscar de olhos, o menino assassinado havia se tornado uma parede rochosa, e o último vestígio de pesadelo foi extraído de minha mente.
Tentei me mexer, mas parecia ter sido apunhalado no peito. Olhando para baixo, vi que não estava complemente enganado — todo o tronco tinha agora o dobro do tamanho normal, uma teia de cicatrizes e pontos decorando a pele ferida. Meu rosto também irradiava dor, e tudo o que consegui fazer foi abrir a boca e emitir um grito, um lamento patético, que, mal saiu, caiu ao chão sem ser ouvido.
O pânico me assaltou, duplicando a agonia no peito e no estômago. Jamais havia me sentido tão fraco; jamais. Mesmo que não estivesse contido por tiras de couro, duvidava que pudesse sair daquela mesa de cirurgia. Sentia-me tão indefeso quanto um bebê recém-nascido, pronto para ser aniquilado pelo primeiro inimigo que entrasse pela porta.
E se algo dera errado? E se os Ofegantes de algum modo tivessem danificado minha espinha enquanto eu dormia? O que aconteceria comigo agora? Seria largado como isca para os ratos, ou talvez apenas fosse incinerado com o resto dos espécimes fracassados.
Algo se mexeu atrás de mim — o farfalhar de uma cauda de casaco de um Ofegante. Oh, Jesus, já estavam chegando. Esperem, tentei dizer, mas dessa vez as palavras foram tão tímidas que nem cheguei a ouvi-las. O farfalhar ficou mais alto, e senti a picada de uma agulha no braço. Quase instantaneamente a dor começou a desaparecer, a força retornando a meu novo corpo, enquanto o néctar fluía dentro de mim. O alívio foi tão grande que podia ouvir as batidas do meu coração, altas o bastante para abafar os passos do diretor até que estivesse bem do meu lado.
— A dor é o que mata a maioria das pessoas — disse ele, inclinando-se sobre a mesa de aço. — Ou o que as enlouquece. Veja os ratos. Não conseguiram suportar a dor, por isso ficaram loucos, tornaram-se animais. O néctar e as cirurgias podem ter esse efeito.
Ele acompanhou com o olhar um fio de sangue que lentamente vinha em sua direção. Endireitando o corpo, caminhou pela sala enquanto continuava a falar:
— Estava preocupado com sua mente. Veja, se tentasse resistir muito mais, seria como usar um pedaço de pau para fazer uma barricada de proteção. Só duraria alguns instantes até rachar em pedaços. — O diretor atravessou a sala e pressionou uma das mãos sobre minha testa. O toque liberou uma nova onda de dor, que se alastrou pelo meu rosto e tronco. — Mas você parece ter sobrevivido com todas as faculdades mentais intactas. Bem, aquelas que queríamos manter, pelo menos. Sonhou de novo enquanto o operavam, não foi?
Eu sentia muita dor para acenar com a cabeça, mas o diretor não parecia esperar por uma resposta.
— Será o último. Sempre é. De agora em diante não haverá mais dor, nem pesadelos. Só poder. Não foi uma jornada fácil, sei disso. Mas será recompensadora.
Encaminhou-se para trás de mim, e senti a correia superior afrouxar. Apareceu do meu lado e soltou a fivela que prendia meu braço. Lenta e metodicamente, soltou todas as correias que me continham e depois me ofereceu sua mão. Não o encarei, tentando descobrir quais eram seus motivos, mas sabia que não pretendia me prejudicar. Fazendo uma careta devido à dor no peito, peguei a mão estendida e o deixei me ajudar a sentar.
— Estou orgulhoso de você — disse ele, apoiando as duas mãos em minha cabeça, como se fosse um sacerdote. — Você abraçou uma nova vida, a nossa vida.
Senti meu peito inchar, não de dor dessa vez, mas de orgulho. O diretor recuou um passo, checando a bolsa de néctar pendurada em um suporte ao lado da mesa. Quando voltou a falar, a cordialidade havia desaparecido de sua voz, tomando-me de surpresa.
— Mas não estamos prontos para aceitá-lo; não ainda. — Abri a boca para protestar, mas ele roubou as palavras com um único olhar. — O simples fato de estar vivo até agora não é garantia de que esteja pronto. Alguns dos que passaram pelo procedimento ainda estão fracos no íntimo; não têm o que é requerido para se juntarem à minha família.
Fez um sinal na direção da porta, e um Ofegante entrou na sala de cirurgia. Observei a criatura cambaleante se aproximar de uma bandeja ao lado da mesa e pegar uma longa seringa. Ela continha um líquido claro.
— Alguns carecem de força física para se tornar meus soldados — prosseguiu o diretor, enquanto o Ofegante estalava os dedos na seringa e espirrava um pouco do líquido no ar. — Outros não conseguem lidar com... as responsabilidades que a nova vida envolve.
O Ofegante emitiu um guincho agudo e, antes que eu pudesse protestar, enfiou a agulha em uma veia do meu antebraço. Não se parecia em nada com o fluxo gélido do néctar; apenas provocou uma sensação agradável que penetrou todo o meu corpo. Quando a voz do diretor se fez ouvir novamente, estava abafada, como se falasse com uma gaze sobre a boca.
— É um anestésico leve, nada para se preocupar. Da próxima vez que acordar, vamos descobrir até que ponto você chegou e até onde vai sua força.
A voz sumiu, e mergulhei no silêncio de minha mente.
— Aprontem a câmara, desviem o curso do rio e preparem os ratos. O teste vai começar.
O TESTE
Algo pingava sobre meu rosto, causando-me grande irritação.
Abri os olhos com rapidez e vi que o mundo era feito de nuances prateadas. Fiquei confuso apenas por um instante, até me lembrar dos novos olhos, a visão noturna me fazendo perceber que estava em um pequeno aposento feito de pedra. A princípio, achei que tinha voltado ao buraco, ao confinamento na solitária, porém olhei para o lado e notei uma passagem estreita que conduzia às sombras.
Outro pingo de água caiu no meu rosto, provocando aflição. Olhando para cima, vi uma fenda na rocha, talvez uns dez metros acima de minha cabeça. Enquanto a observava, mais dois pingos escorreram e caíram, cada detalhe perfeitamente distinto enquanto dançavam no ar e depois se juntavam aos outros — lágrimas platinadas contra a rocha escura. Fiz um movimento para sair do caminho, mas uma pressão fria nos pulsos me deteve. Algemas, presas à parede.
O que estaria acontecendo?
Tentei recordar as últimas palavras do diretor. O teste vai começar. Que tipo de teste era aquele?
Puxar as correntes não adiantou nada, mas quase me ensurdeceu naquele espaço pequeno. Esperei que os ecos desaparecessem na distância antes de procurar por algo no chão que pudesse me ajudar. As fendas na rocha eram como uma teia de aranha em luz prateada, e não havia nada ali, exceto meus pés descalços. Percebi as cicatrizes na pele e me lembrei das cirurgias, da maneira como meu tronco havia aumentado da última vez que o vira. Não sei quanto tempo havia se passado desde que o Ofegante me fizera dormir, mas devia ter sido um bocado, porque a dor tinha desaparecido por completo. E o diretor tinha razão. Não houve mais pesadelos.
Algo rangeu acima de mim, tão alto que senti o coração parar de bater antes de retomar seu compasso. Fiquei na ponta dos pés quando o gotejar tornou-se um fluxo contínuo, como se alguém tivesse aberto uma torneira do outro lado da fenda. O rangido se repetiu, e dessa vez descobri do que se tratava. Senti a pele arrepiar, e não tinha nada a ver com o aguaceiro gelado que já começava a empoçar na superfície rochosa. Era o som que o metal faz quando está sob enorme pressão. O tipo de pressão que podia vir de uma imensa quantidade de água retida.
Antes que o terceiro rangido se desvanecesse, já havia enrolado as correntes ao redor das mãos e as puxava com toda a força. Havia agora uma verdadeira cachoeira jorrando da fenda estreita, tornando o piso escorregadio e me impedindo de segurar devidamente o metal das correntes. Embora a passagem próxima a mim, que tinha visto anteriormente, indicasse que a água não se acumularia ali, sabia que era só uma questão de tempo até o metal que rangia ceder sob a pressão e eu ser esmagado por um punho de espuma branca.
Praguejando o mais alto que podia, firmei a perna na pedra e me inclinei para trás, tensionando braços e ombros até achar que os músculos irromperiam pele afora. Conseguia sentir a força dentro de mim; todas as fibras do meu ser sendo colocadas em ação. Nunca havia sonhado possuir tal poder, mas não era suficiente.
O metal rangeu de novo, e então um dos lados da esquadria se soltou. Olhei para cima a tempo de ver um jato d’água descer para a cela de pedra, atingindo-me com tanta violência que me fez escorregar. Lutei para ficar de pé, berrando de raiva quando outro lado da esquadria se soltou e o jato tornou-se uma lâmina.
Desta vez, enrolei as correntes em torno do peito e me afastei da parede, puxando-as como se rebocasse uma carroça. A adrenalina pulsava nas veias como ácido, e eu conseguia sentir o néctar fluir também, dando-me força, encorajando-me a ir em frente.
Não morreria daquele jeito. Não agora, quando enfim tinha o poder ao alcance das mãos. Não iria morrer.
Cerrei tão forte os dentes que pensei que se quebrariam e, apoiando o pé na junção entre chão e parede, coloquei os músculos para funcionar. Ouvi outro rangido e quase tombei ao chão, achando que o metal finalmente havia cedido. Mas então senti as correntes se esticar e soube que eram elas as responsáveis por aquele som.
Parei por um segundo para recuperar a respiração, depois arremeti de novo o corpo para a frente. As correntes me cortavam os punhos, o peito, mas era uma dor boa, estimulando-me a prosseguir. No atrito do metal contra a rocha, um dos parafusos da parede se soltou. Ao concentrar toda a minha força, o outro parafuso se soltou sem oferecer a menor resistência, arrastando com ele um pedaço de pedra do tamanho de uma cabeça.
O ímpeto me fez voar de encontro à passagem obscura, o que provavelmente salvou minha vida. Acima de mim, o mundo parecia desmoronar, um som que poderia ser o de um céu desabando. O chão vibrou quando uma enorme quantidade de água o atingiu, mas àquela altura eu já havia transposto a passagem e corria por um corredor a toda velocidade, as correntes arrastando-se atrás de mim.
Minhas pernas eram como perfuratrizes, as fendas prateadas nas paredes e no chão brilhando como olhos de gato em uma estrada no meio da noite. Podia sentir o vento em meu rosto, a genuína satisfação de ser capaz de correr tão rápido fazendo-me sorrir, embora a morte estivesse bem atrás de mim. Arrisquei olhar por sobre o ombro, o rio desenfreado em uma torrente vertiginosa de mercúrio ganhando velocidade. Depressa demais.
Obriguei-me a apressar o ritmo. À frente não havia nada senão pedras; nenhum sinal de porta, entroncamento ou qualquer outra coisa que pudesse representar uma rota de fuga. Sentia-me mais forte e mais rápido do que jamais tinha sido, mas ainda assim meus pulmões ardiam, as batidas do coração ameaçando arrebentar os pontos de cirurgia, e tinha consciência de que não seria possível manter aquele ritmo para sempre.
Senti os primeiros respingos gelados de água na nuca, o ruído parecendo o som emitido por uma enorme criatura ao ver sua presa capturada — soava tão triunfante! Ela já havia me aprisionado antes em seus dentes, este mesmo rio, uma era atrás. Eu tinha escapado, mas agora ela desejava terminar o trabalho.
E, pelo jeito, seria bem-sucedida. À frente, o corredor terminava, um beco sem saída de rocha maciça. Eu era forte, mas não havia como abrir caminho através daquela parede. Não antes de a massa de água borbulhante me esmagar contra a rocha. Não era um teste; era uma execução.
Pensei no diretor, em seu risinho frio, enquanto eu estava ali, prestes a morrer. Uma raiva imensa invadiu meu estômago. Emitindo um grito animalesco, atirei-me contra a parede com os punhos cerrados. A água já quase me cobria, seus dedos frios parecendo o toque da morte. Então era assim que tudo acabaria. Esmagado entre a força irreversível do rio e o peso estático da rocha.
Quase fui mesmo esmagado no fim do corredor, quando percebi o túnel se angulando para cima. Reagi de modo instantâneo, impulsionando-me em direção àquela estreita passagem. A água inundou o espaço que eu tinha ocupado havia poucos momentos com um som semelhante à detonação de uma bomba atômica, manchas de espuma como garras pálidas subindo em minha direção. O rio não perdeu tempo em continuar a caçada, vindo rocha acima a uma velocidade assustadora.
Retendo um pouco mais de ar nos pulmões, passei a subir, os olhos prateados captando fendas e rachaduras na rocha, e meus braços maciços me impulsionando para cima com facilidade. A respiração úmida do rio tornava a rocha lisa e escorregadia, mas, toda vez que achava ter perdido o apoio, fincava as pernas contra as laterais do túnel vertical, mantendo-me no lugar. A água era ágil, mas eu era ainda mais. E iria vencê-la.
Consegui enxergar o ponto mais alto da fenda, selado por uma escotilha.
Venci os últimos metros com uma graça nos movimentos que me surpreendeu, saltando de um lado para o outro como um macaco. Inserindo os pés em cantos opostos e enfiando uma das mãos em uma fenda no alto, atingi a escotilha e senti uma argola de metal. Um único toque me fez saber que a escotilha era de aço sólido, pelo menos tão grande e pesada como aquele alçapão que me mantivera na solitária. A água continuava subindo; agora talvez restassem apenas uns cinco metros entre mim e suas profundezas geladas. Só tinha uma chance.
Furioso, cerrei o punho e o arremeti contra a escotilha. Não sei o que esperava com aquilo, mas o som que o aço produziu quando meu punho se chocou contra ele quase me fez despencar. O ruído do osso na escotilha e meu grito de dor foram ecos gêmeos que despencaram da fenda, até serem engolidos com voracidade pelo rugido do rio. Minha mão parecia ter passado por um triturador de lixo, a dor inacreditável, mesmo se comparada a todas as outras dores que já tinha sentido. Porém, ao olhar a escotilha, fiquei surpreso ao ver uma marca no aço, como se tivesse sido golpeado por uma marreta.
Soltando um grito, disparei o outro punho contra a escotilha, dessa vez fazendo um dos cantos ceder. Enrolei nas mãos as pesadas correntes ainda atadas a mim e as arremeti de novo, à esquerda e à direita, a barricada de aço sendo deformada após cada golpe.
A água já atingia meus tornozelos, o toque gelado querendo acabar com meu entusiasmo. Posicionei-me com mais firmeza, tensionando pernas e costas para dar mais impulso ao braço, enquanto desferia mais um golpe para cima. A escotilha deformou-se um pouco mais, mas ainda resistia. Por uma das extremidades tortas, avistei luzes trêmulas de tochas, e, mais do que qualquer coisa, desejei sair dali. Não queria morrer daquele jeito, tragado por uma besta úmida e gelada.
O rio, no entanto, alcançou em segundos minha cintura, tão frio que me deu a impressão de expulsar todos os ossos do meu corpo. Quando atingiu o peito, meus músculos já não tinham força. Tentei pegar fôlego, mas a água estava ansiosa demais, chegando à escotilha em uma fração de segundo e deslizando seus dedos frios pela minha garganta.
Entrei em choque, os espasmos sacudindo-me o corpo enquanto lutava em busca de ar. Mas não havia nenhum ali para ser respirado. Nem ar, nem entusiasmo, nem força. Tudo o que havia restado era raiva. Ela fervilhava e se contorcia dentro de mim com vida própria, mandando-me disparar mais uma vez o punho cerrado, ordenando-me que fizesse uma última investida.
O golpe teve a velocidade reduzida pela resistência da água, mas nem tanto. Atingiu a escotilha, provocando impacto suficiente para enviar uma onda de vibração rio abaixo. Ouvi um ruído seco — um tiro ensurdecedor em meio ao turbilhão — e achei que fossem meus ossos se quebrando.
Então a escotilha se abriu por completo, e fui impulsionado através dela pela mesma força que havia tentado me afogar. Aterrissei com violência, batendo os punhos ainda cerrados contra a rocha, enquanto lutava para respirar. Continuava a minar água pela escotilha, mas eu estava agora em uma enorme câmara repleta de pedras, e o fluxo ia formando poças inofensivas na superfície irregular.
A água não conseguiria me alcançar ali. Estava em segurança. Havia sido aprovado com excelência no teste patético do diretor, embora me sentisse um pouco furioso. Comecei a rir, um riso que acabou em tosse, e tão alto que só pude ouvir os passos que se aproximavam quando já era tarde demais.
E só quando vários dentes afiados se afundaram em minha carne é que percebi que o teste ainda não havia terminado.
Ao contrário, tinha apenas começado.
INSTINTO DE SOBREVIVÊNCIA
Desferi um chute, entrando em contato com algo macio e enviando o que quer que fosse para trás, cambaleante. Inúmeras agulhas pareciam alfinetar minha carne, mas mal as senti, o instinto de sobrevivência me obrigando a ficar de pé a tempo de ver uma constelação de luzes prateadas voltadas em minha direção.
Ratos. A câmara estava lotada deles.
Aquele que eu havia chutado sacudiu o corpo como um cão, as longas patas dianteiras lutando para se equilibrar. Não era muito grande — era menor que eu —, mas a mandíbula protuberante estava repleta de dentes que cintilavam à luz das tochas. Abriu sua enorme boca e soltou um ganido arrepiante que ecoou pela câmara toda. Em seguida atacou, saltando da rocha úmida e se arremetendo em minha direção. Levantei os braços para proteger o rosto enquanto a criatura investia sobre mim, e senti sua mandíbula se fechar em torno do pulso. Caímos para trás, rolando para perto de um pilar de rocha que se erguia do chão. Felizmente, o rato sofreu a maior parte do impacto, o choque fazendo com que reduzisse a pressão dos dentes em minha carne, o suficiente para que eu colocasse uma das mãos em torno de sua garganta.
Ele rangeu os dentes, todo o corpo opondo resistência à pressão, mas eu mantive as mãos no lugar o mais forte que pude. Os nós dos meus dedos já começavam a inchar, os ossos atritando um contra o outro dentro da pele ferida, mas não havia nenhuma outra arma disponível ali. Impulsionando o punho como uma mola, desferi outro golpe, atingindo a mandíbula do rato. Soou como se um revólver tivesse sido disparado dentro de sua garganta, e a cabeça da criatura girou para um ângulo impossível, as convulsões tornando-se espasmos agonizantes que antecediam a morte.
Não havia tempo para comemorar. Girei o corpo ao ouvir o som de garras arranhando a rocha e notei um segundo rato vindo em minha direção. Este estava tão desfigurado que eu não arriscaria dizer o que havia sido um dia, as pernas e o corpo magro se assemelhando aos de um cão, embora a face fosse achatada demais para ser canina. A criatura sem nenhum pelo brilhava à luz suave, cada um dos músculos se flexionando, depois se contraindo, à medida que avançava em minha direção.
Em segundos estava sobre mim, levantando-se e ficando apoiada sobre as patas traseiras. Com um violento golpe, feriu meu peito com garras afiadas como gilete. Saí de seu alcance, preparando-me para virar o corpo e correr, mas, antes que pudesse fazê-lo, ouvi um grunhido atrás de mim.
Algo bateu em minhas costas, empurrando-me contra o rato. Dessa vez, as garras dele marcaram minha barriga, arrebentando os pontos cirúrgicos. Gritei enquanto a dor se alastrava, mas o som foi interrompido por uma pata imunda dentro de minha boca. Ela feriu meu maxilar e abriu um corte em minha língua, ao mesmo tempo que o rato me empurrava para o chão. Agora ambos estavam sobre mim, as mãos parecendo máquinas de dilaceração ao tirar pedaços de carne do meu tronco.
Muito tempo atrás, provavelmente em outra vida, teria ficado ali, só aguardando a morte. Mas agora, não. Eu era o predador, não a presa. Era o caçador, não a carne.
Mordi aquela coisa dentro da minha boca, sentindo um esguicho quente escorrer garganta abaixo. Cuspi, respirando profundamente antes de deixar a raiva explodir com um rugido gutural. Era um urro de fúria animal, o brado de um matador, e os ratos sabiam disso.
O primeiro saltou do meu peito, afastando-se com um lamento fraco. O outro não teve tanta sorte. Antes que o eco do meu grito de guerra tivesse desaparecido paredes afora, eu tinha as mãos ao redor de sua cabeça. A primeira vez que a esmaguei contra a rocha ele soltou um grito de pura dor. Na segunda vez, só silêncio. Na quinta, só restava um mingau de miolos entre meus dedos.
Fiquei de pé, o néctar preenchendo-me com vigor e raiva. Arqueando o corpo para trás, lancei outro grito, que dessa vez ressoou no local como o canto de um demônio. Nunca havia me sentido tão vivo, tão poderoso. Agora, aquele era meu domínio meu território.
O segundo rato escapuliu, os pés de garras laminadas chegando a patinar ao contornar o pilar de rocha para se esconder. Estralei as articulações inchadas, enrolei com firmeza as correntes em torno delas e investi contra ele. Qualquer coisa que se metesse comigo dali para a frente teria que pagar o preço.
Contornei o pilar e vi algo se movimentar. Devia haver ali todo um ninho de ratos, quase uma dúzia deles se espremendo entre as pedras. A maioria estava reunida em um canto, e logo percebi por quê.
Amarrado a um poste de madeira, como se fosse uma oferenda sacrificial, estava uma figura bem menor do que qualquer um dos ratos, um garoto cujo rosto era uma massa de ferimentos e sujeira, mas ainda assim familiar. Achei que estivesse morto, mas, quando as criaturas se viraram para me encarar, o menino levantou a cabeça e abriu a boca. Mesmo estando do outro lado da câmara, pude entender o que ele dizia:
— Ajude-me.
Ataquei, depressa demais para o rato que estava à frente. Agarrando-o com minhas mãos gigantescas, atirei-o para o outro lado da câmara, seu grito sumindo no ar ao ser lançado contra o bando principal. Foi como assistir a pinos de boliche voando, as criaturas recuando para todos os lados enquanto viam o companheiro se espatifar na rocha. Não lhes dei chance de se enfurecerem, atirando-me sobre eles de punhos cerrados.
Atingi um deles com um golpe na têmpora, forte o bastante para lhe partir o crânio ao meio. Um segundo fincou os dentes no meu ombro antes que eu pudesse detê-lo, mas a dor era uma sensação distante, e usei a outra mão para arrancá-lo dali, mal percebendo que o rato havia levado com ele um bocado de pele. Arremessei a criatura contra a parede, sem precisar olhar para ter certeza de que não se levantaria de novo.
Os ratos começavam, pouco a pouco, a entrar em pânico, colidindo uns contra os outros ao se afastarem do caminho. Peguei um deles pelas patas traseiras, sacudindo-o como se fosse um bastão de beisebol e derrubando mais dois antes de lançá-lo no ar. Antes que os dois conseguissem se levantar, já tinha um joelho nas costas de cada um e, puxando a cabeça deles para trás, forcei até que a espinha se quebrasse.
— Jesus, Alex... é você? — perguntou o garoto amarrado ao poste. Levantei os olhos da superfície que se tornara um tapete de carnificina e fixei nele um olhar que o fez se encolher contra as correntes. — Sou Ozzie, amigo de Simon. Lembra? Ajude-me; tire-me daqui.
Ouvi um ruído de passos atrás de mim. Os últimos três ratos haviam composto uma fileira e investiam contra mim como se fossem um só. Os dois das laterais exibiam uma expressão selvagem, mas eram pequenos. Um devia ter feito cirurgia apenas em um dos braços, o membro excessivamente estufado pendendo inútil de um ombro estreito. O outro tinha pernas monstruosas que davam em um tronco magro. Mas o que estava no meio era imenso e tinha um brilho de maldade no olhar, cada membro, exceto a perna esquerda, inchado com músculos, e o tronco tão grande que parecia ter sido esculpido em pedra. A criatura mancava, o que não a impedia de cobrir a distância com a força de um urso. Nenhum deles desgrudava os olhos de mim, e reconheci a expressão naquelas faces transtornadas. Estavam zangados, furiosos. E isso lhes dava força.
Baixei a cabeça e ataquei, sabendo que demonstrar qualquer sinal de fraqueza significaria a morte. Um dos ratos menores derrapou e parou, balançando a cabeça e se lastimando, mas nem me importei. Mantive o do meio no campo de visão, nunca desviando o olhar de seus olhos prateados. Na rapidez em que me movia, a distância entre nós encolheu em uma fração de segundo, e colidimos com um baque de carne contra carne.
O impacto tirou a respiração dos meus pulmões, dando vantagem aos ratos. O maior agarrou meu rosto com uma de suas patas gigantescas, batendo minha cabeça contra a rocha, e depois lançou um dos joelhos contra meu peito. Estrelas explodiram diante dos meus olhos, que por um instante caíram na escuridão. Senti o outro rato agarrar meu braço, as mandíbulas se fechando como uma armadilha de urso em minha carne, mas, com a enorme criatura me pressionando para baixo, não conseguia alavancagem suficiente para expulsá-lo dali.
Rangendo os dentes como um cão raivoso, o rato imenso se arremessou contra minha garganta, os dentes brilhando como cacos de vidro. Foi por um triz que consegui levantar o outro braço a tempo, enrolando as correntes em sua mandíbula e afastando-a com a pouca força que me restava. O rato perdeu o equilíbrio, cedendo um pouco de espaço. Aquela era minha chance. Flexionei a perna e disparei o joelho contra a cabeça dele.
Não esperei para ver que dano havia causado; tratei logo de livrar meu braço e recuar. O sangue jorrava do meu corpo com a mesma fúria com que a água havia escapado da escotilha, e comecei a me sentir zonzo. Não suportaria muito mais tempo. Tinha que finalizar aquilo.
Com outro urro de raiva, lancei-me de volta à luta. Usando dessa vez a mão esquerda, desferi um golpe direto no nariz do rato menor, fazendo-o se espatifar contra a rocha. Antes que tivesse aterrissado, no entanto, ergui o braço direito e esmurrei o estômago de seu companheiro maior. Foi como socar uma parede, os músculos parecendo asfalto, mas era evidente que a criatura havia ficado sem ar, pois se afastou de mim cambaleante e emitindo um rosnado trêmulo.
Desviei os olhos dele por um segundo, procurando no chão algo que pudesse utilizar como arma. A câmara estava repleta de fragmentos de rocha partida, e peguei uma do tamanho de uma melancia. Os dois ratos se viraram para fugir, mas eu estava sobre eles em um único salto, a fúria superdotando minha visão e fazendo meu corpo agir como se tivesse mente própria.
O primeiro caiu com uma pancada violenta, dando duas cambalhotas antes de aterrissar. O maior quase me escapou, mas ali não havia para onde fugir. Ele não teve tempo sequer de se virar e me encarar, antes que eu esmagasse sua cabeça entre a parede e a pedra em minhas mãos. Girando o corpo, vi o último rato escapulir para o canto onde o garoto continuava amarrado. Não sei qual era sua intenção, mas não havia escapatória para a raiva que me tomava. Três passos enormes, e eu já havia atravessado a câmara, um grito de desafio escapando da garganta ao arremessar o fragmento de rocha contra seu crânio. Ele tombou, morto instantaneamente.
— Obrigado...
Com a adrenalina pulsando nas veias, virei-me e parti para o ataque antes mesmo de ter consciência do que fazia. Em algum lugar em minha cabeça, sabia que os ratos estavam todos mortos; que não havia mais ninguém para matar. Mas minha mente estava tão exausta, tão tomada pela fúria, que não consegui me deter.
O garoto, Ozzie, olhou-me com descrença quando a rocha lhe atingiu o peito.
— Alex — ele murmurou, e, embora os lábios continuassem a se mexer, não havia ar suficiente em seus pulmões para que as palavras fossem proferidas.
Deixei cair a pedra e recuei, incapaz de desviar os olhos dos dele, mesmo quando a luz os deixou e a pele se tornou azulada, atingindo depois um tom pálido de cinza. Ele desfaleceu, ainda seguro pelo poste de madeira, como se o corpo se recusasse a reconhecer a própria morte.
O que eu tinha feito? Embora o néctar ainda deixasse minha mente insensível e envolta em escuridão e o coração batesse forte, satisfeito com a vitória contra os ratos, eu sabia, de algum modo, que havia cometido um crime terrível. O garoto estava indefeso. Ele não era um rato, era uma pessoa. E eu o havia matado.
— Não — murmurei, lutando contra a onda fervilhante de emoção que me subia pelo estômago. — Você mereceu morrer. Você mereceu.
Ele merecia. Era um ser patético, fraco demais até para tentar se libertar. Não havia sido nada além de uma presa para os ratos; nada além de uma presa minha. Recordei seu rosto, os olhos assustados como os do rato que estava ao seu lado, apavorado demais, até mesmo para gritar. Era assim que todos os fracos do mundo encontrariam seu fim, aniquilados por predadores como eu. Ozzie não havia sido nada, era um ninguém, e merecia morrer.
Continuei repetindo isso, mesmo quando fiquei em pé no meio da câmara, assolado por tremores que faziam meus dentes ranger e o sangue jorrar dos meus ferimentos. Continuei dizendo isso a mim mesmo, porque essa era a única maneira de sobreviver à culpa. Era o único jeito de sobreviver à consciência do que havia acabado de fazer sem pegar o fragmento de rocha e arremetê-lo contra meu cérebro. Era o único modo de sobreviver ao teste.
O diretor tinha razão. Agora eu era mesmo um monstro. E não havia como voltar atrás.
INTEGRAÇÃO
Não percebi a entrada dos ternos-pretos na câmara até o arame eletrificado ter sido enrolado em meu pescoço. A carga não foi forte, parecendo mais com cócegas que milhões de insetos percorrendo minha espinha e se enfiando entre meus músculos provocariam, mas estava no chão antes de ao menos saber o que havia me atingido.
Eu não podia reagir, mesmo que minha vida estivesse em jogo. Apenas me deixei ficar ali deitado em silêncio, exceto pelos sussurros roucos e involuntários que me escapavam da garganta, observando os pés do diretor caminhando pela rocha ensanguentada e se detendo diante de mim. Ele se agachou, baixando a cabeça até ficar em minha linha de visão.
— Foi impressionante — disse ele, e, embora não fosse possível ver seu sorriso, eu podia senti-lo. Ele tirou gentilmente as correntes que pendiam dos meus dedos, abrindo as algemas e atirando-as ao chão. — Muito impressionante. Que ferocidade. — Levantou-se e, por um segundo, captei um reflexo meu no couro negro e polido do sapato dele: um rosto grande demais, como uma abóbora de Halloween que fosse entalhada com pontos cirúrgicos, os olhos como velas gêmeas cuja luz prateada parecia prestes a emitir faíscas. Então o diretor se afastou, e meu reflexo se foi. — Levantem-no — ordenou ele por sobre um dos ombros. — Levem-no para a cama. Ele merece um descanso.
O fio de arame em torno do meu pescoço desapareceu, mãos fortes sob as axilas me erguendo. Mal era capaz de colocar uma perna diante da outra, mas os ternos-pretos não me deixariam cair.
— Foi um bom trabalho — falou o que estava à minha esquerda, a voz muito grave ecoando pela câmara. — Quando vimos a água saindo pela escotilha, não achamos que fosse conseguir. É nessa fase que a maioria fracassa.
— Mas você a golpeou como se fosse feita de papel — comentou o outro. — E aqueles ratos não tiveram sequer uma chance...
Riram, e o riso era tão retumbante que eu podia senti-lo vibrar em minha pele como se fosse outra descarga elétrica. Um deles chutou o cadáver disforme de um rato do caminho, e eu o vi rolar por um lago do próprio sangue antes de se deter ao esbarrar em uma pedra. Havia cadáveres por toda parte, os olhos prateados agora cor de chumbo, garras e dentes ainda expostos, como se não tivessem percebido que estavam mortos. Manchas úmidas, quase negras, espalhavam-se pelas paredes e pelo chão como uma bizarra disseminação de fungos subterrâneos. Com o cheiro de decomposição já pairando no ar, o odor metálico de sangue misturava-se ao último suspiro dos ratos, sepultados para sempre naquela tumba.
Eu não conseguia acreditar que havia sido o responsável por tal carnificina. Tudo bem que ela tinha começado com uma questão de sobrevivência, mas com certeza nem mesmo os ratos mereciam ser tão brutalmente exterminados.
Atingimos uma porta de metal praticamente oculta por um pilar de pedra, o diretor liderando o caminho ao passar por ela, tendo à frente um corredor bem iluminado. Lancei um último olhar para a câmara. Vi Ozzie ainda preso em sua estaca, observando a legião de corpos distorcidos como se fosse o senhor dos condenados. Então a cena desapareceu atrás da pesada porta, meus pensamentos se perdendo em meio ao ruído de botas no chão de pedra.
Foi nesse momento que a dor passou a se instalar. Dentro da câmara, a adrenalina e o néctar haviam me mantido em estado de alerta, mas, agora que a luta pela vida tinha chegado ao fim, meu corpo parecia prestes a desfalecer. Começou com um espasmo profundo em minhas entranhas, como se todos os músculos protestassem contra o que eu havia exigido deles. Em locais onde a agonia já pungente se tornava um pouco mais aguda, como ombro, costas, abdômen e peito, a sensação somada a meu estado de delírio, imaginei feridas em carne viva abertas como bocas paralisadas em um grito sem fim. Olhei para baixo, observando a chuva negra e vermelha que caía de mim, enquanto era arrastado pelo longo corredor. Tentei chamar a atenção para esse fato, mas o diretor não pareceu preocupado.
— Você não vai morrer — ele falou, encarando-me sem, no entanto, interromper seus passos. — Pode agradecer ao néctar por isso. Seu corpo é, na falta de expressão melhor, o de um super-humano. Seria necessário algo muito mais sério para acabar com ele agora. Os ferimentos estarão curados dentro de alguns dias, talvez até de algumas horas. E será sempre dessa maneira, enquanto continuar a se alimentar do néctar.
Ele chegou a um entroncamento guardado por ternos-pretos. Um dos gigantes sorriu para mim enquanto abria uma porta de metal e nos aguardava passar por ela.
— Estou contente que você tenha conseguido — disse ele.
Aquelas palavras ativaram a mais minúscula das lembranças, o fantasma de alguma coisa em minha vida passada. Não conseguia identificar o que era, mas sabia que tinha algo a ver com um jogo, com me fazer sentir parte de uma equipe. Esforcei-me ao máximo para retribuir o sorriso e, embora meu rosto ferido impedisse que os lábios se separassem, pude sentir meus olhos brilhando.
Obrigado, tentei responder, mas não fui capaz de emitir nenhum som.
A sala à frente era mais escura se comparada ao corredor iluminado que havíamos acabado de deixar, a penumbra abraçando o ambiente como se tentasse esconder o que estava diante de nós. Mas não havia mais nada que pudesse ficar oculto dos meus novos olhos, e, quando o foco se ajustou, consegui distinguir um longo e estreito dormitório com aproximadamente cinquenta ou sessenta camas. Poderia ser uma enfermaria, não fosse pela ausência de cubículos e cortinas separando cada paciente. Isso e o fato de que os volumosos gigantes deitados nos leitos não estavam amarrados.
— Estas serão suas acomodações a partir de agora — esclareceu o diretor, a voz suave combinando muito bem com a quietude sombria do ambiente. — Você vai trabalhar em turnos, mas vamos nos preocupar com isso amanhã. Por ora, só precisa descansar e deixar esses ferimentos fechar.
Fez um aceno de cabeça para os ternos-pretos que me seguravam, e eles me conduziram com gentileza pela sala, depositando-me em uma cama vazia. Encolhi-me quando o esforço para me deitar fez a dor disparar de novo, sentindo os lençóis imaculados se tornarem quentes e úmidos. Então alguém ligou um soro em meu braço, e a luz mortiça do aposento penetrou em meus poros, chegando à cabeça.
— Durma — falou o diretor. — Quando acordar, vai se sentir melhor do que jamais se sentiu. — Virou-se e deixou a sala, os ternos-pretos parecendo um enxame negro atrás dele. Mas o diretor se deteve ao chegar à porta. — Porque, então, será de fato um de nós.
Não sei durante quanto tempo eu dormi. Desprovido de sonhos e pesadelos, o abismo disforme de tempo poderia ter atravessado uma noite ou cem anos. Mesmo quando a escuridão se foi e me vi olhando para o teto, não tinha certeza se realmente estava acordado. Sentia o corpo em estado de entorpecimento total, a ausência de dor sem dúvida era milagrosa demais para ser real.
Ergui uma das mãos, surpreso ao descobrir que não havia sido amarrado, e pressionei os dedos inchados contra o peito, depois contra o rosto. Conseguia sentir o toque, mas era tudo. Não havia o latejamento de carne dilacerada, nem alfinetadas de ferimentos em carne viva, tampouco a ardência de músculos distendidos. Era como se a batalha com os ratos nunca tivesse acontecido.
Quem sabe não tivesse acontecido? Mesmo agora, a memória parecia vaga e distante, como algo que houvesse assistido em um filme ou sonhado muitos anos atrás. Não parecia possível que eu tivesse escapado de um túnel de água congelante abrindo caminho através de uma escotilha de metal. Não parecia possível que tivesse enfrentado um ninho de criaturas deformadas e raivosas, e vencido.
E certamente não era possível que tivesse... que tivesse matado um garoto inocente.
Ignorei o pensamento antes que pudesse se desenvolver, recusando-me a deixar a imagem de Ozzie penetrar em minha mente. Tinha feito o necessário para sobreviver, ponto final. Ozzie não era um de nós; ele era um deles, um dos fracos. E tinha sido eliminado para que o predador dentro de mim pudesse viver, para que eu pudesse me integrar por completo.
Todos os ternos-pretos passavam pela mesma coisa, sabia disso agora. Lembrei-me de Monty, recordando a outra vida, quando era uma pessoa diferente. Ele havia sido levado, o corpo dilacerado e de novo reconstituído, como o meu havia sido. E fora levado de volta às celas da prisão, atirando-se sobre seu companheiro de cela, Kevin. Nunca tinha sido capaz de descobrir por quê, mas agora fazia sentido.
Uma vez que você matava por raiva, tirava uma vida sem razão aparente, não havia como voltar atrás. Isso mudava algo dentro de você. Transformava-o de um deles em um de nós, os ternos-pretos. Esse era o verdadeiro teste, compreendi por fim. Não a água, não os ratos, mas tirar a vida de um inocente.
Foi um acidente, argumentava uma parte de mim. Mas teria sido mesmo? Sabia que os ratos estavam todos mortos. Sabia que não havia mais nada a temer. Algo mais havia me motivado a partir para o ataque — raiva, sim, mas também ódio do que tinha sido um dia, do que Ozzie ainda era. Em algum canto sombrio dentro de mim, tinha consciência exata do que faria.
Senti uma repentina pontada de culpa. Não pela morte de Ozzie, mas pela de Monty. Ele tinha se livrado de suas fraquezas e se tornado um terno-preto, e eu o havia matado. Se pelo menos conhecesse os fatos como conhecia agora; se conhecesse a verdade sobre o diretor e sua prisão; se soubesse o que iriam me oferecer, jamais teria tentado escapar.
Ouvi algo se movimentar e percorri a sala com o olhar. Cerca de dez ternos-pretos tinham levantado da cama. Moviam-se como se fossem um só, estendendo os lençóis e ficando de pé, espreguiçando os membros de músculos proeminentes antes de vestir ternos e calçar botas. Em menos de um minuto estavam vestidos e saindo em fila do aposento. Um deles captou meu olhar enquanto passava e me lançou uma piscadela prateada.
— Já está acordado. Muito bom — mencionou sem se deter. — Vou informar o diretor.
Desapareceram porta afora e retornaram segundos depois. Pelo menos, achei ter sido isso o que aconteceu, até observar os homens que haviam entrado na sala e constatar que aqueles ternos-pretos eram de um grupo diferente. Os ternos estavam amassados, a expressão tensa, as mãos sujas. Nenhum deles olhou para mim ao caminharem, quase cambaleantes, até um conjunto de camas mais distante na sala. Tiraram os ternos, desabaram sobre os colchões e conectaram as agulhas de soro nos braços. Com um tremor de exaustão, todos pareceram cair no sono ao mesmo tempo e imediatamente.
Sentei-me e deixei as pernas pender da cama, balançando-as. Havia bandagens cobrindo as áreas de ferimentos mais profundos, mas, embora cada um tivesse um halo avermelhado ao redor, não havia nenhuma outra indicação de que tivesse sido tão machucado. Até mesmo as incisões das cirurgias haviam soltado os pontos, sendo agora apenas cicatrizes na pele nova.
O diretor tinha razão. Eu era um super-humano. E isso me parecia ótimo.
Meu sorriso deve ter sido visível da outra extremidade do aposento, porque foi a primeira coisa que o diretor pareceu ter notado ao entrar.
— Eu lhe disse que se sentiria melhor depois de um bom sono — ele falou. Olhei para cima e vi que ele carregava algo sobre o ombro.
— Por quanto tempo eu dormi? — perguntei, a voz pastosa. Fiquei aliviado ao descobrir que conseguia articular palavras de novo.
— Apenas uma noite — foi a resposta. — Embora provavelmente pareça ter sido uma vida inteira.
Concordei com a cabeça, enquanto ele se aproximava da cama, tomando o cuidado de não fitá-lo nos olhos. Eu havia mudado, me tornado bem mais forte do que fora um dia, mas o diretor ainda era o diretor, e seus olhos contavam verdades que eu nunca faria questão de descobrir. Ele parou à minha frente, usando a mão livre para puxar minha pálpebra para cima e examinar algo sob ela.
— Totalmente recuperado — comentou. — Sem dor nem nenhum outro incômodo. Estou certo?
Concordei de novo com a cabeça.
— Então está pronto para isto. Levante-se.
Obedeci, saindo da cama. Por um instante, achei que o diretor havia encolhido, até perceber que eu é que tinha ficado mais alto — pelo menos meio metro. Era óbvio que estivera exausto demais na noite anterior para perceber esse fato. O diretor me esquadrinhou de cima a baixo, depois tirou do ombro o que carregava e entregou a mim, como se fosse um presente.
Meu coração pareceu explodir de alegria, fazendo os músculos se contrair e a garganta se apertar em um nó. Não podia acreditar no que estava vendo, no que o diretor me oferecia.
— É seu — ele falou. — Vista-o com orgulho, e saiba que foi um dos primeiros. Porque, quando o mundo der sua reviravolta e os fortes estiverem no comando, você será um de nós. Aqui está, experimente-o. Vai servir.
Tinha certeza de que serviria. Porque, sem sombra de dúvida, nada no mundo poderia se ajustar a mim com maior perfeição do que a camisa branca e o terno preto dobrado nos braços do diretor. Engasguei, tomado por genuína gratidão, mas nenhum de nós pareceu perceber isso quando estendi um dos braços e o enfiei no novo uniforme. A camisa de linho era fria e macia, uma nova camada de pele contra minha própria nova pele, e, na confusão, confundi os botões. O diretor se aproximou, endireitou o paletó em meus ombros e depois ajeitou a camisa, como um pai vestindo o filho.
Segundos depois, eu estava de pé diante dele, totalmente vestido, enquanto ele dava o nó na gravata em torno do meu pescoço. Alisou-a contra minha camisa e recuou um passo, e juro que vi orgulho refletido em seu rosto ao me mirar de alto a baixo mais uma vez.
— Perfeito — falou por fim. — Seja bem-vindo, soldado de Furnace.
O PASSEIO
Segui o diretor com a cabeça erguida, desfrutando do som das botas novas, que produziam um ruído cadenciado na superfície rochosa, e do frescor revigorante do terno, que aderia aos músculos como seda. Toda vez que passávamos por um guarda no corredor, ele acenava para mim, e eu devolvia o gesto, sabendo enfim o significado de estar integrado, de ser um soldado de Furnace.
— Você já viu a maior parte da prisão, de um lado ou do outro dos perímetros permitidos. — O diretor falava por sobre o ombro enquanto caminhava, um vestígio de aborrecimento na voz. — Mas vamos perdoar as transgressões do seu passado. Só agora você será capaz de compreender o que acontece de verdade aqui, o que criamos.
Ele atingiu o fim do corredor e virou à esquerda, detendo-se dian-te de outra porta com guardas. O terno-preto destrancou uma enorme fechadura, depois abriu a porta, fechando-a assim que passamos. Reconheci o corredor em que estávamos pelo entroncamento à frente — a passagem da direita terminando no incinerador, e a da esquerda passando pelas salas de cirurgia, dando na enfermaria. Mas o diretor me conduziu para mais adiante.
Eu já tinha percorrido aquele caminho. O fantasma de uma lembrança assombrou meus pensamentos, mostrando-me mentalmente um corredor que conduzia à direita e dezenas de criaturas deformadas em casacos de couro usando máscaras de gás.
— Ofegantes — falei, o medo reduzindo a velocidade dos meus passos. O diretor olhou por sobre o ombro e soltou um riso seco.
— Então já esteve aqui — comentou ele. — Chegou a ir à cela deles?
— Não — respondi, aumentando de novo meu ritmo e me juntando ao diretor. — Não pude; lá havia muitos deles.
— Você matou um dos Ofegantes. Os outros companheiros não encaram isso muito bem. Mas não vão reconhecê-lo agora.
O corredor à frente encontrava-se deserto, sem nenhum sinal das criaturas que o haviam infestado antes. Terminava em outra porta, esta sem guardas. O diretor segurou a maçaneta e a girou, abrindo-a com um rangido que pareceu quase humano. Assim que este sumiu no ar, consegui ouvir música à frente, o som estranhamente não familiar após tanto tempo em Furnace. Prossegui com meus passos, mas ele estendeu uma das mãos para me deter.
— Como falei, os Ofegantes não vão se lembrar de que você é o responsável pela morte de um irmão deles. Mas não significa que não seja perigoso. Permaneça no centro da sala, não se aproxime de nenhuma das celas e não os encare.
Podia ser fruto da minha imaginação, mas achei ter captado um levíssimo traço de ansiedade na voz do diretor. Entretanto, sem mais palavras, ele se virou e transpôs a porta, os passos amplos um pouco mais confiantes do que antes.
À frente havia outro aposento do mesmo tamanho que a enfermaria. A música vinha de um antigo gramofone colocado no chão de pedra, um disco girando irregularmente no prato, e o som saindo da grande corneta. Uma mulher cantava em uma língua estranha, a mesma de um dos meus sonhos, a voz estridente e fraca, mas sem dúvida muito bonita. Senti algo dentro de mim derreter diante da doçura da canção, a melodia como uma faca ceifando a neblina e trazendo lembranças distantes à superfície da minha mente. A sensação durou apenas um segundo, enquanto meus olhos examinavam o resto do aposento.
Não havia leitos ali, mas a ala estava longe de estar vazia. Mesmo com meu novo corpo e a força que ele continha, senti as pernas vacilar. Não era exatamente medo — era mais um eco fraco dele, mas ainda assim enfraquecia minhas pernas.
Alinhadas dos dois lados estavam celas de metal abertas, quase como baias de gado. E dentro de quase todas elas havia um Ofegante. Todos pareciam estar em convulsão, o corpo se contorcendo em espasmos, movendo-se depressa demais para se assemelhar a um ser humano comum. Assim que nos viram, os olhos gulosos se estreitaram, e expiraram um ofegante suspiro coletivo, um coro de guinchos roucos que me fez desejar correr dali, sendo ou não um terno-preto. O diretor deve ter percebido minha hesitação, pois ordenou que eu prosseguisse com um gesto urgente de sua mão.
— Não pare — sussurrou sobre o som da música. — Não atraia a atenção deles.
Enquanto falava, um dos Ofegantes deu um passo à frente na cela, cambaleando como alguém que tivesse sido apunhalado. Moveu-se na superfície de pedra, vindo em nossa direção, e usou uma das mãos trêmulas para abrir o casaco, revelando um cinto repleto de agulhas alinhadas. O diretor se encolheu por um instante, mas logo se recompôs.
— Para trás! — gritou ele, movendo-se na direção do Ofegante com uma agilidade ameaçadora. — Volte para a sua cela agora!
O Ofegante parou um pouco, mirando o diretor com os dois pedaços de carvão sem vida que lhe serviam de olhos. Contorceu-se algumas vezes, a cabeça se lançando para trás e produzindo, atrás da máscara costurada à pele, aquele som nojento de gargarejo pigarreante, como se a garganta estivesse com sangue. Em seguida se virou devagar, vagando como um zumbi na cela.
— Venha — disse o diretor, a voz muito mais baixa, mas carregando a mesma autoridade. — Antes que todos eles comecem a se interessar.
Eu o segui pela extensão do aposento, sem ser capaz de desviar os olhos das dezenas de Ofegantes em convulsão. Ali devia haver pelo menos uns cinquenta deles, todos idênticos, com sua pele pálida e enrugada e os casacos imundos. Felizmente, nenhum pareceu preocupado quando abrimos uma porta incrustada na parede rochosa ao fundo, e a única coisa que nos perseguiu foi outra sinfonia de guinchos ofegantes que ocultaram o final da canção.
— A ala norte é deles — esclareceu o diretor assim que a porta foi trancada. Agora estávamos em outro corredor, que parecia dar fundos com os depósitos do outro lado da prisão. Ele seguiu pelo corredor, lançando as palavras por sobre o ombro: — Não convém vir aqui sozinho, a menos que eles o chamem.
— Mas quem são eles? — perguntei, o coração ainda subindo e descendo dentro da caixa torácica. Pensei de novo em meus sonhos, visões de jovens com casacões e máscaras de gás, e me vi respondendo à minha pergunta: — São os mesmos dos meus pesadelos, não são? Antes eram soldados.
O diretor lançou um olhar penetrante para mim, e encontrei seus olhos. No espaço de um único batimento cardíaco o tempo se desfez, o mundo se desintegrou em um mosaico de imagens brutais — bombas explodindo na lama, corpos mortos nas trincheiras e as mesmas figuras ofegantes espreitando a penumbra. Depois, pisquei algumas vezes, e a realidade se reinstalou com tal força que senti a cabeça girar.
— Soldados? — perguntou o diretor, parando ao lado de outra porta. Não fez um movimento sequer para abri-la, fitando o metal desgastado como se perdido em pensamentos. — Todos nós éramos soldados.
— Mas onde? Quando?
— Há muito, muito tempo — respondeu ele, o semblante de repente tão cansado quanto sua voz. Ficou quieto por alguns instantes, obviamente imerso em alguma lembrança distante, mas depois pareceu se lembrar de que eu estava ali. — Venha, deixe-me lhe mostrar algo. Isso pode ajudar a explicar.
Ele girou a fechadura, abriu a porta e me conduziu direto aos portões do inferno.
Meu primeiro pensamento foi que o aposento à frente era uma versão grotesca de um zoológico. O ambiente era tomado por gritos, rugidos e grunhidos abafados, os sons lutando por supremacia contra o fedor de dejetos e de carne em decomposição que abriu caminho nariz adentro, provocando-me náuseas. Cambaleei para trás, mas o diretor me deteve com uma expressão de fúria.
— Não há como escapar daqui — ele falou, indicando o espaço à frente com a mão enluvada. — Este é seu destino agora, o seu lar.
Minhas mãos penderam, mas mantive as costas pressionadas com firmeza contra o metal frio. Era a única coisa que me impedia de despencar no chão. Deixei meus olhos vagar, mas na verdade não vi nada. Era como se estivessem feridos demais para se fixar nos horrores que se encontravam diante de mim, temerosos de ser arrastados para o universo da insanidade.
O aposento era igual ao das outras alas: paredes de pedra vermelha se estendendo às sombras acima de mim, luzes pendendo do teto e tingindo cada detalhe doentio com seu brilho avermelhado. Mas, enquanto a enfermaria e o aposento dos ternos-pretos eram arrumados e silenciosos — e embora até mesmo os Ofegantes ficassem em suas celas —, aquele lugar era o caos.
À direita da sala havia cerca de dez ou mais jaulas como aquelas que eu tinha visto em meu sonho. Olhos prateados cintilantes me olhavam da escuridão, que aumentava no fundo de cada cela de ferro, e, quando as figuras lá dentro se moveram, vi que eram cães. Alguns estavam cobertos de pelo e encolhidos de medo contra as grades; outros eram duas vezes maiores, a pele retirada para revelar os músculos sob ela. Aquelas monstruosidades se atiravam em nossa direção, fazendo as jaulas se inclinar para a frente, os dentes parecendo facas serrilhadas.
Na parede oposta a eles estava um cubículo, este muito maior do que os da enfermaria. Atrás dele pude vislumbrar mais jaulas, embora as formas pálidas que se delineavam nelas, deitadas em estado de inconsciência, não tivessem nenhuma das características dos cães. Virei as costas antes de poder extrair algum sentido do que via, o horror fazendo minha garganta se fechar em um nó.
O diretor avançava lentamente, as mãos unidas atrás das costas. Eu não sabia bem o que fazer, por isso o segui, os olhos perdidos no chão, evitando olhar o que me cercava.
— Não ignore esta realidade. — A voz do diretor se elevou sobre a cacofonia caótica, um sussurro tão claro quanto um sino em meu ouvido. — Você é parte deste lugar agora, assim como ele é parte de você. E ele é realmente parte de você. Flui nas suas veias, uma infinidade de poder produzido por uma eternidade de sofrimento. Porque todo progresso deve vir da dor. Olhe.
Obedeci com relutância, erguendo a cabeça para olhar outra jaula de cães. Esta era muito maior, tendo pelo menos três metros de altura e um metro e meio de largura. E a criatura dentro dela quase a preenchia por completo, a cabeça disforme abaixada para evitar tocar o teto, e a imensa estrutura tão grotescamente musculosa que quase escapava grades afora. Tinha quatro suportes de soro posicionados ao redor da jaula, cada um com duas bolsas de néctar conectadas a agulhas nos braços da criatura.
A besta uivou, fazendo a jaula tremer tanto que fiquei convencido de que o metal não aguentaria. Porém, deteve-se ao nos ver, erguendo a cabeça. Encarei-a, mirando a enorme boca, os olhos afundados nas órbitas como moedas de prata pressionadas contra uma bola de massa cor-de-rosa. E, embora não tivesse como identificar quem era aquela criatura, de algum modo eu sabia.
Gary, pensei, e quase proferi a palavra em voz alta antes de me lembrar o que tinha acontecido da última vez. Não conseguia me lembrar, no entanto, como recordava aquele nome, a informação sendo apenas uma coceira insistente dentro do meu crânio. O diretor parou, e pude sentir seu olhar cravado em minha pele, esquadrinhando-me em busca de algum sinal de emoção.
— Sabe quem é este? — perguntou ele.
— Não — menti. O diretor me observou por mais um momento antes de fazer um aceno de cabeça.
— É um sujeito qualquer — explicou. — Embora tenha tido uma reação rara ao néctar. O procedimento o despojou de qualquer traço de humanidade, de toda a capacidade de pensamento racional e raciocínio cognitivo. Tornou-se uma criatura feita apenas de poder destrutivo.
— Um rato — falei. Mais uma vez, o diretor fez um aceno com a cabeça. Outra lembrança percorreu a escuridão da minha mente: um garoto chamado Gary, desprovido de emoção, querendo matar apenas por diversão. O néctar não o havia transformado em um monstro. Como poderia? Ele sempre fora um. Mais uma vez, a coceira perfurou um osso do meu crânio, uma onda de recordações querendo ser libertada, e falei alguma coisa apenas para dispersá-la. — Se ele é um rato, por que não foi incinerado?
— Olhe para ele — foi a resposta do diretor. — Fisicamente, é bem superior aos outros espécimes que foram submetidos ao procedimento. O néctar fez seu corpo crescer quase o dobro do tamanho normal. E o crescimento ainda está em progresso.
O diretor se aproximou da jaula e estendeu a mão. A criatura mordeu a isca, movendo-se rumo às grades com seus dedos em forma de garras. O diretor foi muito rápido, saindo do alcance dela com um riso sem nenhum traço de humor.
— Bem que eu gostaria de saber por quê. E os Ofegantes, também. Tivemos alguns espécimes que reagiram da mesma maneira, mas ainda não compreendemos o processo. Se conseguíssemos descobrir o que havia no corpo dos espécimes para reagirem desse modo ao néctar, poderíamos mudar a fórmula e garantir que todos os novos recrutas — enfatizou a última palavra com o mesmo risinho frio — tivessem seu tamanho e força. Além disso, espécimes como este são de extremo interesse para o próprio Alfredo Furnace. São um projeto pessoal, essas criaturas mais selvagens, os vikings. O doutor Furnace cuida deles com especial atenção.
— Aqui? — perguntei. A simples presença de Gary já era o suficiente para me infligir um enorme terror, mas a ideia de que poderia haver mais criaturas como aquela, mais máquinas de extermínio com músculos potencializados e fúria incontrolável, era o suficiente para que desejasse tirar imediatamente meu novo terno e me esconder num canto. O diretor percebeu meu desconforto e me lançou um sorriso irônico.
— Não, nem mesmo este lugar poderia manter os vikings. Eles estão em um lugar muito mais seguro. Na propriedade do doutor Furnace. Um lugar que poderá conhecer algum dia se tiver sorte.
Olhei para uma das bolsas de soro, vendo a poeira de um prateado escuro cintilar como galáxias distantes. Enquanto as observava, senti o néctar em meu próprio sangue reagir à visão, fazendo o coração disparar e aguçando meus sentidos a ponto de os odores e sons do aposento se tornarem quase insuportáveis. Desviei os olhos, concentrando-me no chão mais uma vez, até passar a sensação de vertigem.
— Mas o que é o néctar? — perguntei, ao menos para ouvir minha voz. — De onde ele vem?
— Vem dos piores lugares do mundo — explicou o diretor, caminhando enquanto falava. — E dos mais selvagens. Não saberia lhe dizer exatamente o que ele é. Nem os Ofegantes saberiam, mesmo que dissessem que sim. Só o doutor Furnace sabe, pois foi ele quem o descobriu.
— Como assim, descobriu? — perguntei. Passamos por outro cubículo. Segui o dedo dele, vendo uma mesa de cirurgia à frente. Nela, inconsciente e se contorcendo em um sono agitado, estava um cão. A metade do corpo havia explodido como uma fruta podre, as veias expostas bombeando a escuridão do néctar inserido nelas.
— Alfredo Furnace esteve lá desde o início. — O diretor emitiu de novo aquele risinho nauseante. — Bem, estamos todos aqui, mas foi ele que criou o néctar, quem criou o primeiro de nós. Foi ele que descobriu que a guerra não tem de resultar apenas em horrores, mas também em maravilhas.
— Não entendo — falei. O senhor está dizendo que o doutor Furnace criou o néctar durante uma guerra?
— Durante a guerra — replicou o diretor.
Sacudi a cabeça, recordando mais imagens dos meus sonhos: meninos com suásticas em uniformes da prisão, soldados com o mesmo emblema adornando o uniforme. Eu sabia a que período da história essas imagens pertenciam, mas já fazia muito tempo.
— É impossível — falei.
O semblante do diretor se abriu em um sorriso que pareceu amplo demais, alegre demais, como uma criança se lembrando de um dia na praia.
— Com o néctar, nada é impossível — ele respondeu. — Essa substância transforma o corpo humano em uma máquina com infinitas possibilidades. Nem mesmo a idade impõe sua força sobre nós se tivermos o poder de Furnace nas veias.
Observei a pele do diretor, que parecia couro curtido, minha nova visão deixando evidente cada ruga em sua face. Ele parecia muito velho, um ser mais antigo que sua época.
— Mas — arrisquei de novo — você não poderia estar vivo...
— Eu estava — foi a resposta, e deixei os olhos dele sondar meu rosto. — O néctar foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, e eu estava lá para testemunhar seu nascimento.
A VERDADE
— Não acredito no senhor — disse, assim que consegui recuperar a fala. — Não é possível.
— Mas é verdade — replicou o diretor com rapidez. — Não há necessidade de mentiras e exageros quando o néctar está envolvido.
Ele retomou a marcha, e minha silenciosa onda de choque se intensificou enquanto passávamos pelo caos que era aquele lugar. Afastei-me quando a criatura que um dia fora Gary estendeu uma das mãos para mim, tentando ignorar seus gritos de horror para não perder a linha dos meus pensamentos. O diretor parecia velho, mas não o bastante para ter participado da Segunda Guerra Mundial. Se fosse assim, estaria vivo há quase um século.
— Você, mais do que a maioria, sabe bem o que é ter o néctar dentro de si — prosseguiu o diretor. — Sabe como ele modifica a pessoa, como a torna melhor. Como se sente sabendo que vai viver muito mais tempo do que jamais imaginou?
Tentei me esquivar do pensamento, mas foi impossível. Ele estava certo; tinha todas as evidências de que precisava para acreditar nele. Afinal, o néctar tinha mudado completamente meu corpo; havia me curado de ferimentos que teriam levado à morte qualquer pessoa normal. E, era evidente, tinha mantido o diretor e os Ofegantes vivos por muito mais tempo do que deveriam estar. Talvez isso me tornasse, além de imortal, também imbatível. Sorri diante desse pensamento, o sorriso de tubarão imitando o do diretor.
Entretanto, uma inquietação persistia nos confins de minha mente, o pensamento de que algo ali não estava certo.
— Alfredo Furnace descobriu um modo de canalizar os pesadelos da guerra, a raiva e o ódio dos soldados — continuou o diretor, avançando em meio à loucura daquele hospício. — Ele fez experimentos com as tropas, nos que haviam se ferido e também nos que enlouqueceram. Você viu isso nos sonhos, não viu?
Lembrei-me da imagem do campo de batalha, do jovem soldado deitado na lama à beira da morte, gritando, enquanto homens com máscaras de gás o levavam dali. O diretor sabia minha resposta sem precisar se voltar e olhar para mim.
— Ele descobriu algo nos homens mais fracos, nos que mais temiam a morte. Descobriu algo dentro deles.
— O néctar — completei. Não entendia nada do que o diretor dizia, mas a verdade daquilo estava em minhas entranhas, navegando em minhas veias.
— A essência do néctar — corrigiu o diretor. — A escuridão, que é seu extrato principal. O doutor Furnace percebeu que poderia extraí-la e recriá-la artificialmente. E foi isso que resultou no néctar.
Quanto mais nos adiantávamos por aquele aposento e quanto mais o diretor progredia em sua história, maiores se tornavam os horrores que me cercavam. Era como se as palavras dele fossem tão terríveis que metamorfoseassem o mundo que nos rodeava, transformando-o em uma abominável paródia de si mesmo.
Passada a mesa de cirurgia, semioculta por uma cortina manchada, havia outra jaula enorme, esta ocupada por dois ratos que dilaceravam o que um dia devia ter sido um membro humano — agora não mais que pedaços de carne sobre um osso sujo. Do outro lado do aposento, um Ofegante estava sentado em uma cadeira de madeira, tirando a sujeira das luvas. Não pareceu perceber nossa presença, mas o simples fato de deparar com aquela figura ainda me deixava tão nervoso que precisei de um momento para perceber que o diretor prosseguia com a história:
— Seu momento de triunfo chegou ao descobrir o que acontecia com o corpo humano quando o néctar artificial era inserido. Ele expulsava todas as fraquezas que atormentavam a mente; transformava seres submissos em matadores, verdadeiros soldados sem medo nem remorso, desprovidos de qualquer emoção, exceto aquelas das quais o néctar era derivado: raiva, crueldade e ódio.
A fala do diretor foi ficando mais alta e mais rápida a cada palavra, pois ele mal conseguia conter sua excitação.
— E, com as fraquezas da mente sob controle, o corpo poderia se tornar o que de fato deveria ser: podia crescer em tamanho e força, como a natureza havia planejado. Com uma pequena ajuda do bisturi, claro. Graças a Alfredo Furnace, meros mortais, almas patéticas conhecidas como homens, podiam se tornar deuses.
Dirigiu a última palavra a outro agrupamento de jaulas postadas contra a parede à minha direita. Estas permaneciam vazias, com exceção de uma, onde outra criatura me mirava com olhos sem vida — um prateado e outro castanho.
— Não que não houvesse sacrifícios a serem feitos — disse o diretor, detendo-se por um momento. Fechou os olhos do cadáver na jaula. — O doutor Furnace logo descobriu que o corpo adulto não poderia suportar o néctar, tampouco as cirurgias. As células durariam muito pouco tempo e logo seriam desintegradas. Só um corpo jovem, que ainda não estivesse totalmente desenvolvido, teria força suficiente para se recuperar. E mesmo assim haveria alguns que rejeitariam o néctar; que morreriam na mesa de cirurgia.
— Ou se tornariam ratos — acrescentei.
— Isso mesmo. Porque há uma linha tênue entre excluir as fraquezas mentais das pessoas, suas emoções, e pôr fim a todos os traços de humanidade. Se inserirmos pouco néctar, a cirurgia pode matar. Se inserirmos demais, podemos criar monstros. O doutor Furnace acreditava que era possível encontrar o equilíbrio certo a tempo de vencer a guerra, mas, quando aperfeiçoou o néctar, os Aliados tomaram Berlim, e ele foi obrigado a fugir.
— Fugir? — questionei, de repente me dando conta do que o diretor falava. — Porque ele era um criminoso de guerra, um nazista, certo?
Pude perceber a raiva crescendo dentro do diretor, todo o seu corpo parecendo inchar. Mas ele respirou profundamente, e a tensão se dissipou.
— O doutor Furnace era um gênio. Ele conseguiu fazer o que a natureza não foi capaz. Criou uma raça de seres muito superiores à humana, soldados que podiam combater sem medo, sem sofrimento, sem piedade.
— Mas...
— Mas nada — interrompeu o diretor. — Você sabe o que é entrar em uma batalha tendo certeza de que vai morrer? Ver seus amigos tombar a seus pés, a cabeça arrebentada ou o corpo em pedaços devido a um bombardeio mortal? Sabe o que é isso?
Ele se virou, agarrando meu queixo com uma das mãos antes que eu pudesse virar o rosto. Nos olhos dele, vi as palavras ganhar vida, tornando-se imagens de dor, sofrimento e violência que eram despejadas em minha mente. Tentei me desvencilhar, mas seus dedos me apertavam com força, e fui obrigado a reviver seu horror enquanto ele falava.
— Eu sei. Estava lá, na lama, no excremento e no sangue, com uma arma que não podia disparar porque minhas mãos estavam feridas demais para conseguir puxar o gatilho, com um uniforme apertado demais para me permitir correr, as balas vindo em minha direção, de amigos e inimigos, porque ninguém sabia distinguir quem atirava contra quem. O céu se abriu, e bombas caíam dele como se Deus desejasse esmagar insetos, a escuridão cercando todos nós, tão profunda e infinita que era como se estivéssemos cegos, ou mortos. E a dor quando você é atingido, quando sente aquele impacto de metal fervilhante penetrando suas entranhas e o incendiando por dentro, sabendo que não vai conseguir ir em frente nem voltar para trás, porque os próprios companheiros vão cortar sua garganta por covardia, vendo que você vai morrer com o rosto fincado naquela sujeira, tão longe de casa, tão longe de qualquer coisa que conheça.
Ele largou meu queixo e desviei o rosto, cambaleando com a última das imagens ainda em minha cabeça.
— Tinha sua idade quando fui obrigado a entrar na guerra — prosseguiu ele, o tom agora um pouco mais brando. — E teria morrido se não fosse o doutor Furnace. Ele me mostrou o que era não sentir medo, ser uma criatura com plenos poderes, com força ilimitada. Se lhe tivesse sido permitido realizar seu trabalho, o terror seria uma coisa do passado. A guerra, também. Porque, quando os fortes inevitavelmente superam os fracos, e os impotentes são inevitavelmente excluídos da face da Terra, quem restará para lutar?
Ele foi em frente, alcançando o setor final do aposento, e eu o segui, parte de mim com medo de ouvir o resto da história, outra parte desesperada para saber o que havia acontecido.
— Depois da guerra, o doutor Furnace veio para este país. Todos viemos. E encontramos um modo de realizar seu trabalho, de continuar a pesquisa do néctar.
— Por que aqui? — perguntei, buscando encontrar as palavras certas. — Por que numa prisão?
— O que você acha? Há lugar melhor para disseminar o pânico, o ódio, a raiva de um campo de batalha que um local como este? Um lugar sem misericórdia, sem nenhuma proteção, onde a violência está por toda parte, onde os impotentes são perseguidos pelos poderosos, e onde os inimigos exterminam os oponentes pela simples alegria de vê-los morrer? Embora por longos anos viéssemos tentando atingir nossos objetivos por vários meios, não houve plano que nos fizesse arrebanhar os números de que precisávamos, e a idade dos espécimes era um ponto crucial. Mas, quando o governo enfim percebeu que o excesso de liberdade não é a maneira correta de conduzir um país e a Penitenciária de Furnace abriu as portas, tivemos acesso a um número ilimitado de sujeitos com os quais trabalhar, com total imunidade.
O lugar começou a girar, e fechei os olhos por um momento para recuperar o equilíbrio. Não podia acreditar no que ouvia, mas o que mais explicaria tudo o que eu tinha visto até o momento e as coisas que haviam feito comigo?
— Estamos próximos, muito próximos daquilo que queremos atingir — falou o diretor, conduzindo-me para a esquerda a fim de evitar uma poça que se propagava com rapidez de trás de um cubículo. Não conseguia ver nada através das cortinas, mas os urros pigarreantes, como se a garganta estivesse cheia de sangue, e respirações ofegantes além deles me informavam o que ocorria ali. — Haverá outra guerra, uma grande guerra, e o mundo vai enfim tombar diante de seus líderes naturais, de sua raça suprema. É a sobrevivência dos mais fortes e a total aniquilação dos fracos. E você, meu amigo, terá a honra de estar do lado vencedor. Você terá um lugar na nova pátria.
O diretor falou a última sentença com um orgulho que parecia explodir de cada um dos poros, e era impossível não ficar entusiasmado diante daquilo. Eu sentia o néctar penetrar, ardente, em meu coração, levando com ele uma fome de poder. Era um dos poucos escolhidos, parte de uma nova raça que livraria a humanidade de tudo o que a impedia de atingir seu pleno potencial. Nada nos deteria.
Entretanto, assim que aquela onda de euforia passou, deixou um vestígio atrás dela — como o rastro de secreção que segue uma lesma. Havia algo de errado no que o diretor dizia. Mas o que poderia ser? O que haveria de errado em um mundo onde a fraqueza não existisse? Ainda assim, a sensação desconfortável persistiu, uma inquietação familiar na boca do estômago, cuja causa não pude identificar com exatidão.
Assim que o diretor rumou para uma porta na extremidade mais distante da sala, vi uma imagem fugidia do garoto que havia sido um dia. Estava assaltando uma casa. Com a visão, veio o pensamento do dinheiro fácil, seguido da culpa pelo que tinha feito — esta, soterrada com rapidez e colocada fora do plano de reflexão. Não sabia por quê, mas sentia de novo a combinação desagradável de algo doce e amargo ao mesmo tempo.
O diretor teve que remover um naco de algo avermelhado e úmido da maçaneta, antes de abrir o enorme portão de ferro.
— Mas, para cada soldado como você, para cada criança de Furnace que tem um lugar no novo mundo — prosseguiu ele, entrando em um túnel escavado na rocha —, deve haver, necessariamente, os que ficam para trás. O néctar não funciona em todos. Alguns códigos genéticos parecem ser resistentes ao extrato principal, não importa a quantidade fornecida. Essas almas desafortunadas não poderão participar da guerra que não tardará a acontecer.
Fiquei imaginando por que ele me contava aquilo, e, ao ouvir os gritos vindos de cima, em um tom que logo reconheci, tudo ficou claro. A inquietação em minha mente tornou-se uma dor fulminante, e cambaleei, apoiando uma das mãos na parede. O diretor ouviu minha respiração irregular e se deteve, o sorriso se abrindo no rosto por um instante, antes de se obrigar a apagá-lo.
— Algo errado? — ele indagou, e tive certeza, pelo tom, de que só havia uma resposta que poderia lhe dar.
— Não, estou ótimo. É que é muita coisa para absorver de uma só vez.
— É mesmo. Sei que é — comentou o diretor, mastigando as palavras como se decidisse se acreditava nelas ou não. — Será mais fácil quanto tudo estiver acabado. Venha, siga-me. — Continuou a falar enquanto avançava. — Como eu dizia, há aqueles que jamais vão conhecer o poder da criação de Alfredo Furnace. O único propósito a que servem é nos tornar mais fortes.
Chegamos a uma porta, que se encontrava aberta. Ao me aproximar, ouvi a pancada de um punho contra a carne, e não tive certeza se o nó em meu estômago provinha de medo ou excitação. Ouvi um grito, seguido de um riso muito alto, e o diretor o tomou como sendo sua deixa. Agarrou meu braço e me empurrou para dentro.
— O único propósito a que servem é nos transformar em matadores, nos ajudar a abraçar nosso destino.
A sala à frente era pequena, a rocha tingindo o ambiente de um avermelhado mais profundo que o do corredor que havíamos acabado de deixar. Dois ternos-pretos estavam no centro dela, os punhos cerrados e inchados com a mesma cor das paredes. Ainda riam quando o diretor retomou a palavra:
— O único propósito a que servem é morrer.
Os ternos-pretos se afastaram, cada um para um lado, a fim de revelar um garoto amarrado a uma cadeira. Sua cabeça pendia sobre o peito, mas, assim que nos ouviu entrar, olhou para cima e nos encarou com um olhar feroz e desafiador. Eu o conhecia. Era o garoto que havia tentado me matar, que tentara me sufocar com um travesseiro. Como era mesmo que os amigos dele o haviam chamado? Zê? Mas havia algo mais, alguma coisa a respeito dele de que não conseguia me recordar direito. Lutei para alcançar as lembranças, gemendo quando a agonia em meu crânio aumentou.
O diretor estendeu a mão na direção do garoto, como se quisesse me dar um presente.
— Ele é todo seu — falou, os dentes reluzindo à insistente luz avermelhada da sala. — Agora, mate-o.
A IRA
Não me movi. Não pude. A dor em minha cabeça só aumentava. As lembranças eram uma onda confusa, minha mente uma comporta prestes a explodir sob a pressão.
— Não me ouviu? — perguntou o diretor, a voz tão aguda e fria quanto a lâmina de uma faca. — Mate-o.
Todos os olhos do aposento estavam cravados em mim — dois conjuntos de moedas prateadas dos ternos-pretos, que não eram nem de longe tão intensos quanto os que pertenciam ao garoto. Ele me encarou de sua cadeira com firmeza, sem piscar, ainda que lágrimas insistissem em descer sobre o rosto ferido. Mas foi o olhar do diretor que me encheu de terror. Não podia encará-lo, sabendo que sua expressão era de desdém. Já a tinha visto antes, nas ocasiões em que fracassara durante meu procedimento, e não poderia suportar testemunhar seu desapontamento comigo.
Endireitei o corpo, lacrando a mente e me concentrando no trabalho à frente. Por que era tão difícil? Afinal, já havia matado antes. Tinha abatido vários ratos e assassinado Ozzie. Eu era um predador, um soldado. Tirar uma vida não significava mais nada para mim.
Mais uma fisgada no crânio, como se desejasse colocar a mente em uma engrenagem em que ela se negava a se encaixar. Fechei os olhos com força, respirando profundamente e esperando que, ao abri-los de novo, o garoto não estivesse mais ali. Ou pelo menos que estivesse olhando para o outro lado. Mas, quando o aposento entrou em foco novamente, ele continuava me encarando, a expressão de desafio parecendo esculpida em pedra.
— Vamos — soltou o garoto. — O que está esperando? Acabe logo com isso, Alex.
Senti um aperto no coração. Aquela última palavra soara tão próxima e, no entanto, tão distante. Antes que conseguisse perceber por que, um dos ternos-pretos partiu para o ataque e atingiu o garoto com um golpe selvagem na têmpora. A cabeça dele tombou para trás, e por um momento achei que o guarda tivesse finalizado o trabalho por mim; então, os olhos do garoto se abriram mais uma vez, o olhar perdido percorrendo cegamente o aposento, antes de me encontrar.
— Está me desobedecendo? — grunhiu o diretor, seu hálito ran-çoso muito perto do meu rosto. — Não ouviu minha ordem? Mate-o, agora.
Antes que sua última palavra fosse proferida, senti algo bater contra meu peito. Estrelas explodiram diante dos meus olhos, e cambaleei pela sala. O golpe não havia sido tão forte, mas inesperado, e senti a raiva fervilhando estômago acima. Meu pulso acelerou, o aposento ficando mais escuro à medida que o néctar atingia cada veia e cada artéria.
Avancei com passos trôpegos até o diretor, os dentes cerrados com tanta força quanto meus punhos. Ele me bateu de novo, a mão se movendo com tamanha agilidade que nem a enxerguei, e dessa vez a raiva explodiu como uma bola de fogo dentro de minha cabeça.
— Assim está melhor — falou o diretor. — Sinta esse poder, essa fúria. Você é um soldado de Furnace, e eu sou o comandante. Você fará o que eu mandar.
O néctar me inundou a mente, apagando tudo, exceto o ódio, a ira. Olhei para o garoto, tão pequeno e fraco. Ele era como Ozzie, que se encolhera todo, temendo perder a vida — vida esta que pertencia a mim, que cabia a mim poupar ou exterminar, se assim desejasse.
Só que aquele garoto não se encolhia de medo. Ele não era fraco. Ainda continuava me olhando fixamente, os olhos tão brilhantes que foram os meus que acabaram se desviando dos dele. Fitei os ternos-pretos, seus sorrisos oscilando junto com o meu entusiasmo. Podiam acabar com o garoto em um único golpe, assim como eu. O que havia de errado comigo?
Virei-me para o diretor em busca de apoio. Era quase palpável a onda de pânico que se mesclava à raiva, subindo à garganta como bile. A mão dele voou, e um soco firme me fez balançar para trás. Depois, mais dois tapas, um em cada lado do rosto. Urrei de dor, um som que parecia vir de cada fibra do meu corpo, e ergui os punhos em um gesto de defesa.
— Que patético! — gritou o diretor, pontos de espuma se acumulando nos cantos de sua boca. — É tão estúpido assim que não se lembra de que ele tentou matá-lo, pressionando um travesseiro sobre seu rosto? O néctar o rejeitou, não funcionou nele. Ele jamais poderá ser um de nós. Ele precisa morrer!
O diretor tornou a me esbofetear uma, duas vezes, uma série de golpes que fizeram meu sangue fervilhar. Depois pegou meu braço e girou meu corpo, colocando-me frente a frente com o garoto.
— Agora faça o que deve ser feito, ou juro que eu mesmo vou matar os dois e atirar os corpos no incinerador.
Ergui a mão, sentindo os músculos inchar contra o terno com tal vigor que achei ter ouvido o tecido se rasgar. O néctar corria dentro de mim, desesperado por vingança, e, antes mesmo que tomasse consciência do que fazia, agarrei o macacão esfarrapado que cobria o garoto. Seu corpo era frágil contra minha pele, nada além de ossos e sujeira. Como poderia morrer, se não parecia sequer estar vivo?
Deixei uma das mãos chegar à garganta, meus dedos enormes e repletos de cicatrizes engolfando o graveto que lhe servia de pescoço. Uma pequena pressão, um tapa, e era só o que seria necessário.
— É isso aí — disse a voz do diretor atrás de mim. — Acabe com ele.
— Vai se sentir melhor quando tudo estiver acabado — acrescentou um dos ternos-pretos. — Não pense. Apenas torça com força, e já terá feito o que é preciso.
Apertei mais o pescoço dele, os tapas do diretor parecendo ferro em brasa no meu rosto, desencadeando a raiva que borbulhava dentro de mim. Os olhos do garoto ainda não haviam se desviado. Era um olhar feroz, que parecia me atravessar como uma flecha de fogo.
— É melhor você me matar — sugeriu o garoto. O menino cujo nome era Zê. — Porque, se não me matar, eles vão me matar. Prefiro morrer nas suas mãos, Alex, ainda que você não seja mais você. Depois de tudo o que passamos juntos, prefiro ser morto por você do que por esses idiotas.
— Cale-se — grunhi, sentindo a dor como uma lâmina cortando a tampa do meu cérebro. Ela abriu um buraco na escuridão de minha mente, libertando uma lembrança tão brilhante, tão vibrante, que me tirou o fôlego: Zê e eu sentados em um beliche repleto de luvas de borracha cheias de gás, e rindo. A recordação ficou flutuando por um instante e depois desapareceu, afundando-me de novo na penumbra.
— Acabe com ele agora — falou o diretor, sua impaciência se assemelhando a um pavio que queima os últimos centímetros, pronto para explodir.
— É, faça isso — confirmou Zê. — Não quero mais ficar aqui. Não há outra saída, exceto esta. Você fez isso por Donovan, agora faça por mim, Alex. Faça isso por mim. Deixe-me voltar para casa.
Ele tombou a cabeça para a frente, pressionando a garganta contra minha mão, os olhos nunca deixando os meus. Podia sentir sua pulsação contra a palma da mão, suave e rápida como a de um passarinho.
— Deixe-me ir para casa.
Casa. Já sabia o que aquela palavra significava, porém uma vez mais a lâmina fatiou minha mente, libertando as lembranças aprisionadas dentro dela. Vi nós dois saltando em um rio e escalando uma chaminé, vi o ponto de luz do sol acima de nós. E, de repente, havia palavras em minha cabeça, palavras que, eu sabia, não tinham nada a ver com o diretor.
— Todos por um — falei em voz alta, o som pouco mais que um sussurro. Algo no rosto de Zê pareceu mudar, os olhos se arregalando.
— E para fora deste inferno, Alex — murmurou ele, tão baixinho que mal consegui ouvi-lo. Mas compreendia o que ele queria dizer. Lembrei que havíamos dito aquilo antes. Pouco a pouco, o néctar foi se escoando, deixando minha mente e revelando as lembranças que ele ocultava. Donovan, Monty, minha mãe, meu pai e...
— Meu nome — falei, afrouxando as mãos ao redor da garganta de Zê. — Lembro do meu nome.
— Você não tem nome! — vociferou o diretor, a voz ecoando pela pequena sala. Aproximou-se, e dessa vez foi a mão dele que alcançou minha garganta, a pressão que exercia parecendo a de um torno. — Nunca teve um. Você nunca existiu, até que eu o criasse. Você me pertence!
Ele ergueu a outra mão como se fosse me bater, mas, antes que pudesse fazê-lo, ergui o braço e agarrei seu punho. Fitei seus olhos, e tudo o que vi foram duas pupilas leitosas que piscaram para mim em choque.
— Meu nome é Alex Sawyer — sussurrei.
O diretor abriu a boca, mas, antes que qualquer coisa pudesse sair dali, meu punho lhe atingiu o nariz. Larguei-o, e ele recuou um passo, o sangue da cor de piche escorrendo por entre os dedos quando os levou ao rosto. Prossegui, dando-lhe um soco no estômago e esmagando-o contra a parede.
Os ternos-pretos se empoleiraram em mim antes que pudesse me virar, uma mão gigantesca atrás da minha cabeça atirando-me contra a parede. Senti algo dentro do rosto quebrar, mas já havia passado por aquela situação; sabia como lidar com a dor. O néctar voltou a ser bombeado em meu coração, indo até a cabeça, só que dessa vez trabalhava a meu favor, a ira me proporcionando força.
Apoiando as mãos contra a pedra, recuei quanto pude. Os guardas se desequilibraram, cambaleando pelo aposento. Virei-me a tempo de ver Zê esticar o pé, enviando um dos ternos-pretos em um salto mortal para um canto distante.
O outro virou a cabeça para ver o que tinha acontecido e, ao se voltar para mim, deu de cara com meu cotovelo. Eu o atingi na garganta com tanta força que pude sentir a vibração do golpe se espalhar por minha espinha. Mas funcionou. Ele caiu de joelhos, arfando em busca do ar que não viria.
Atravessei a sala com uma só passada, aterrissando no peito do outro terno-preto quando este fez menção de se levantar. Os olhos prateados se arregalaram como bordas de taças, incapazes de acreditar no que viam, e em seguida ganharam uma tonalidade sem vida de cinza, assim que quebrei seu pescoço.
— Você tinha razão — falei, levantando-me. — Só é preciso torcer com força.
— Oh, Jesus, Jesus, Jesus — ouvi Zê repetir e, recordando que ele estava ali, corri à cadeira e soltei as correias que o prendiam. Ele ficou de pé num salto, sem desviar ainda os olhos dos meus. — Jesus, Alex. O que fizeram com você?
Olhei para o terno-preto jogado a um canto, depois para o que agonizava a meus pés, e enfim para o diretor, que ia deixando um rastro escuro atrás de si ao engatinhar para a porta aberta. Em seguida, olhei para minhas mãos, inteiramente manchadas de vermelho.
— Eles me deram o que eu precisava — respondi com um sorriso. — Deram o que nós precisávamos para sair daqui.
Mesmo em meio ao caos de ferimentos e sujeira, vi o rosto de Zê se abrir em um sorriso. Ele correu para a frente e colocou os braços em torno de mim, a cabeça agora mal alcançando meu peito. Depois recuou, sacudindo as mãos como se tivessem sido queimadas.
— Cara, você está fervendo — falou.
— É — respondi. Estava prestes a acrescentar outra coisa, quando vi o diretor tirar algo de dentro do paletó. Percebi muito tarde o objeto quadrado que ele segurava, com um botão do pânico no centro. Ele se voltou para mim, o rosto se contorcendo numa expressão de desprezo. Pressionou o botão com o polegar, e uma sirene soou pelo aposento.
— Sirene de violação! — falou Zê, o ruído ensurdecedor transformando os berros em um murmúrio. — O que faremos?
Olhei mais uma vez para a carnificina dentro da sala, depois agarrei o braço de Zê e o arrastei para a porta.
— Vamos correr.
DISTRAÇÃO
Fugimos do aposento, Zê chutando a cabeça do diretor quando passamos por ele como se cobrasse um pênalti. Ouvi um baque surdo — o corpo do diretor chocando-se contra a parede e mais daquela espessa bile escura lhe saindo dos lábios.
— Não se atreva a se levantar! — gritou Zê, o rosto desfigurado em uma expressão de puro ódio. Não ficamos tempo suficiente para ver se o diretor havia seguido nosso conselho. Demos o fora dali, virando à esquerda para pegar o corredor à frente.
— Aonde estamos indo? — gritou Zê, acima do som da sirene. Detive-me no fim do corredor, girando a maçaneta e abrindo apenas uma fração da porta de ferro. Minha mente estava um caos, os pensamentos colidindo um contra o outro como barcos diante de um furacão, o néctar se assemelhando a uma nuvem tempestuosa que ameaçava imergir tudo em escuridão.
— Não tenho a menor ideia — falei. — Mas temos que sair daqui.
E foi o que fizemos. Porque, quando o reforço chegasse, não haveria mais testes, nem perguntas, nem tortura. O diretor nos mataria na hora.
A sala à frente estava exatamente do mesmo jeito que quando eu tinha passado por ela minutos atrás, o único sinal de vida sendo os monstros nas jaulas. O Ofegante que antes limpava as luvas agora estava de pé, os olhos negros nos observando com suspeita. Respirei profunda e furiosamente, e fui em frente. A cadeira em que a criatura estivera sentada estava entre nós, e eu a levantei enquanto corria, balançando-a como se fosse um bastão de beisebol. Ela atingiu o Ofegante nas costas, afundando no mingau de carne que havia sob o casaco com um som de pés sendo puxados da lama. A criatura caiu no chão, colidindo com uma jaula, e manteve-se ali, imóvel.
— Bom arremesso — comentou Zê, mas mal consegui ouvi-lo, tal foi o ruído que explodiu no ambiente. As criaturas nas jaulas gritavam, berravam e rosnavam, como se fosse hora da comida, o som agudo de metal me fazendo concluir que algumas grades não resistiriam.
— Venha — falei, correndo a toda velocidade pelo aposento na direção da porta mais distante. Se conseguíssemos pelo menos sair dali, havia uma chance de nos escondermos em algum lugar até que o caminho estivesse livre.
Mas, antes de chegarmos à metade do caminho, a porta foi aberta para revelar seis formas imensas amontoadas no corredor. Uma dúzia de brilhantes olhos prateados percorreu a sala antes de se concentrar em mim. Talvez, se tivesse mantido o sangue-frio, se tivesse agido como um deles, pudessem passar correndo por mim. Mas algo em minha postura arquejante e defensiva me denunciou.
— Agarrem-no! — berrou um dos ternos-pretos, erguendo a espingarda e disparando uma série de tiros antes mesmo de entrar no aposento. Ouvi as balas rasgar o ar, ricocheteando na pedra, e mergulhei atrás de uma jaula, tentando me proteger. Zê se atirou no chão perto de mim, enquanto o espaço onde estávamos era atingido por uma montanha de disparos.
E agora?, gritei para mim mesmo. Podia sentir a raiva crescendo mais uma vez dentro de mim, o néctar me impelindo a lutar. Havia derrotado dois ternos-pretos, mas agora eram seis ou mais, e com espingardas. Seria impossível.
Ouvi um urro do meu lado, que se elevava até sobre o som da sirene. Olhei instintivamente para a jaula atrás da qual tínhamos nos escondido. Era a jaula de Gary. Desde a última vez que o vira, ele já estava maior, e, enquanto batia os punhos deformados contra as grades, vi uma das dobradiças se soltar. Ele urrou de novo, deixando no metal marcas com o formato de seus dedos. Ouvi o ruído das botas dos ternos-pretos se aproximando com cautela, as armas sendo engatilhadas.
Estávamos presos entre a cruz e a espada.
O dedos de Zê se afundaram no meu braço, e me virei para observá-lo, sua expressão atônita, a boca aberta de espanto.
— Este... Oh, Jesus, Alex, é Gary — disse ele. Fiz que sim com a cabeça, arriscando um olhar para a lateral da jaula, e constatei que a primeira leva de guardas havia sido acrescida de vários mais. Mal consegui recuar a cabeça a tempo, antes que o ar explodisse em fumaça e fagulhas.
— Estamos encrencados — falei, piscando para afastar as centelhas dos meus olhos. — Totalmente encrencados.
Gary vencia a batalha contra a jaula, usando os troncos que tinha no lugar das pernas para arrancar um dos parafusos do metal. A porta trepidou estrondosamente, o rosto atrás das grades uma máscara de genuína raiva. O néctar das bolsas de soro ainda era bombeado para dentro dele, e eu sabia que a única coisa que passava pela sua cabeça naquele momento era matar. Se conseguisse se soltar, exterminaria a todos nós — Zê, eu e os ternos-pretos, sem a menor dificuldade.
De repente, ficou claro o que eu devia fazer.
— Prepare-se para correr — falei para Zê. — Vá para a extremidade mais distante da sala, atrás daquelas jaulas. Siga até a porta.
— O que vai fazer? — perguntou ele, balançando a cabeça, como se já desconfiasse.
— Algo muito, mas muito estúpido mesmo — respondi. — Agora, vá!
Ele não hesitou, permanecendo abaixado enquanto corria próxi- mo às paredes, mantendo as jaulas entre ele e os guardas como cobertura. Tentei me mover, mas descobri que não conseguia, o medo mantendo-me pregado no lugar. Então, com um grito sufocado de desafio, lancei-me na direção da jaula de Gary.
A criatura lá dentro reagiu como um relâmpago, abaixando a mão e arranhando meu peito com as garras afiadas. Ignorei a dor, estendendo a mão e agarrando o último parafuso que mantinha a jaula fechada. Mal tive tempo para abri-la e me afastar, antes de Gary dar um soco na porta, quebrando o restante das dobradiças e enviando-as como estilhaços pelo lugar.
Os ternos-pretos ainda disparavam contra mim, as balas me atingindo como ferro em brasa ao se inserirem em minha carne. Um tiro me atingiu, e eu tombei. Foi o que provavelmente salvou minha vida.
Gary irrompeu jaula afora como um rinoceronte, lançando um uivo que fez vibrar a rocha onde eu estava deitado. Um enorme pé passou a poucos centímetros de minha cabeça, mas, antes que ele pudesse começar seu trabalho de extermínio comigo, ouvi ternos-pretos disparar as armas e senti uma chuva quente sobre minha pele. A besta, próxima de mim, foi atingida. Então a criatura se afastou, encaminhando-se com vigor na direção dos guardas.
— Alex! — O grito urgente de Zê fez com que me levantasse, a agonia da perna ferida já desaparecendo enquanto o néctar fazia seu trabalho. Corri em sua direção, relanceando o olhar para a besta.
Foi um massacre. A criatura que um dia fora Gary dilacerava os ternos-pretos como uma criança que destruísse seus bonecos. Não houve chance para os guardas, as armas deslizando pelo chão, os punhos impotentes contra a fúria demoníaca daquela besta. No espaço de um ou dois segundos, o ambiente era uma massa de fumaça e névoa vermelha.
— Está louco? — perguntou Zê. — O antigo Gary já era uma peste, mas...
Não houve chance de terminar. Algo voou sobre nossa cabeça, um monte de carne envolta em tecido preto. Agarrei de novo o braço de Zê e corri, enfiando-me atrás das jaulas. De vez em quando via-se um brilho vermelho através das grades enquanto Gary continuava seu trabalho, mas me concentrei no caminho à frente, percorrendo a lateral do aposento até a extremidade mais distante.
Não nos detivemos ao ver a porta; pelo contrário, precipitamo-nos por ela sem olhar para trás. Ouvi um grito feroz, mas, se era dirigido a nós ou a algum dos ternos-pretos, não tínhamos como saber, e ele se perdeu no ar assim que fechamos a porta atrás de nós. Agarrei a maçaneta e a girei em um ângulo improvável, usando toda a força para entortar o metal. Seria necessário certo esforço para abri-la pelo outro lado, mas eu tinha certeza de que Gary não teria nenhuma dificuldade.
O corredor se encontrava tão quieto após os horrores pelos quais havíamos acabado de passar que cogitei a ideia de ter ficado surdo. Então a sirene invadiu meus ouvidos com sua pulsação frenética, e lembrei que ainda estávamos muito longe da segurança. Afastando-me cambaleante da porta, avancei pelo corredor com Zê do meu lado. Passamos por um dos depósitos, e ele apontou lá para dentro.
— Que tal ali? — perguntou.
Espreitei pela porta, os olhos esquadrinhando a escuridão e revelando um aposento em matizes de preto e branco, vazio e pequeno demais para nos ocultar.
— Não é grande o bastante — falei. — Vão nos encontrar em segundos. Venha.
Parti outra vez, antes que Zê fizesse a pergunta que li em seu semblante.
— Posso ver no escuro — expliquei. — Todos os ternos-pretos podem. Por isso nossos olhos são prateados.
— Você não é um terno-preto — Zê me respondeu, elevando a voz acima do ruído do alarme. Senti suas mãos em minha manga, obrigando-me a parar, e me virei para encará-lo. — Você não é um terno-preto — ele repetiu. — Você disse nossos olhos. Mas você não é um deles, Alex; você é um de nós.
Fiz um aceno com a cabeça, sorrindo. Mas não sei se acreditava nele. Quero dizer, eu parecia um terno-preto e tinha o néctar correndo pelas veias. Durante quanto tempo ele me daria folga para que recordasse minha vida antiga, antes de a escuridão começar a rastejar de novo dentro de mim?
O som do metal das jaulas contra a superfície rochosa interrompeu aquele momento, apressando nossa corrida. Apenas um dos depósitos ao longo do corredor era grande o suficiente para nos esconder, mas mesmo assim não nos ocultaria por muito tempo. Só havia uma coisa a fazer: tínhamos que atravessar a enfermaria, depois sair no complexo de celas que cercava a prisão. Com certeza encontraríamos um lugar seguro ali.
Atingimos o final do corredor, e Zê abriu a porta devagar. Primeiro, ouvi a música. Embora fosse uma canção diferente, o mesmo som pungente saía do gramofone. No entanto, assim que a porta foi aberta mais um pouco, a voz da mulher sumiu em meio aos guinchos ásperos dos Ofegantes. Olhei lá dentro e notei que a maioria ainda estava nas celas, se bem que alguns recuassem, em movimentos retorcidos, para o meio da sala, como se tentassem encontrar a fonte da sirene.
— Continue correndo. Não pare! — falei, lançando-me para a frente. Corri como um selvagem, desviando de um Ofegante, enquanto ele erguia a mão enluvada em minha direção. Colidi com outro, fazendo-o se espatifar no chão. Os guinchos tornaram-se mais urgentes à medida que foram saindo das celas, cambaleantes, mas eram lentos demais para nos deter.
Vou lhes dar um motivo para chorar, pensei, chutando o gramofone quando passei por ele. A voz da mulher desapareceu com um rangido, o disco se quebrando ao atingir a rocha maciça. O uivo de sofrimento que se elevou arrepiou minha espinha, mas, antes que ele atingisse um crescendo, já havíamos aberto a porta e nos esgueirávamos para o corredor à frente.
Fechei a porta, entortando a maçaneta de metal, como fizera antes, e estava prestes a me afastar, quando ouvi um som estranho. Zê vomitava num canto, com nada além de uma pequena trilha que parecia mingau saindo dos lábios trêmulos. Vomitou um pouco mais, depois me encarou através de olhos lacrimejantes.
— Desculpe — ele falou. — Teria esperado uma hora melhor, mas, você sabe... Quando começa a sair, não há como parar.
Coloquei uma das mãos sob sua axila e o levantei com delicadeza. A sirene soava ainda mais alta ali, e eu conseguia distinguir o ruído de botas ao longe. Mas, dessa vez, sabia exatamente o que fazer. E Zê também.
— O truque dos Wookies* — disse ele com um sorriso. Não fazia ideia do que Zê dizia, mas, em algum lugar da mente, uma lembrança distante foi se formando. Ele arqueou uma das sobrancelhas. — Cristo, Alex, o que fizeram com seu cérebro? Não se lembra de Guerra nas Estrelas?
Balancei a cabeça, mas, embora ao fazer isso mais lembranças viessem à tona, todas elas foram interrompidas quando o trovejar de passos apressados tornou-se mais alto. Zê pôs as mãos atrás das costas como se usasse algemas, arqueando a cabeça para baixo e arrastando-se para a frente. Sabia o que ele tinha em mente, por isso mantive a mão com firmeza em seu ombro e endireitei as costas. Avançamos e depois viramos à direita, tomando o caminho que conduzia à enfermaria.
Um grupo de ternos-pretos quase se chocou conosco ao surgir pela cortina de plástico. Um deles parou e ergueu a espingarda, e fiz o que pude para não despencar no chão ao dar de cara com o cano da arma. Mantive o corpo reto, encarando-o da maneira mais feroz possível, e ele baixou a espingarda com rapidez.
— Onde está o diretor? — gritou ele por sobre a sirene, olhando para as manchas em minha camisa, onde Gary havia me arranhado, e depois para Zê. — E por que ele está aqui?
— O número... — Pensei em uma das conversas que ouvira quando estava na enfermaria, no número que tinham dado a Gary. — O número 195 está solto. Estão tentando contê-lo. Mandaram-me trazer este de volta ao leito. — Dei um safanão violento em Zê, agarrando-o pelo colarinho, a brutalidade suficiente para fazer seus dentes ranger. Ele me olhou de esguelha. — É melhor irem lá para ajudar. Está um caos, aquele lugar.
Vários pares de olhos prateados suspeitos me encararam de cima a baixo.
— Falei para darem o fora daqui! — grunhi o mais violentamente que pude. O terno-preto que estava à frente partiu sem dizer mais nada, os outros guardas como uma sombra ao segui-lo. Não quis esperar para ver o que pensariam da maçaneta torta na porta. Soltei Zê e o empurrei pela cortina de tiras de plástico.
— Moleza — disse ele.
— Moleza — repeti. E foi bom que a enfermaria estivesse sem ternos-pretos ou Ofegantes, porque ríamos, aliviados, quando a cruzamos.
* O texto faz menção a uma cena de Guerra nas estrelas, quando Luke Skywalker e Han Solo, disfarçados, fingem levar Chewbacca (o tal Wookie) para a cela, quando, na verdade, só desejam invadir um módulo-prisão. [N. T.]
MISSÃO DE RESGATE
Foi Zê quem se lembrou de Simon.
Parei de correr quando percebi que não conseguia mais ouvir os passos dele, virando-me e vendo-o espiar por entre as cortinas que escondiam cada leito.
— Vamos — sussurrei, esperando que os ternos-pretos irrompessem enfermaria adentro a qualquer instante, o diretor à frente e ordenando nossa imediata execução. — Temos que encontrar algum lugar para nos esconder.
— Não sem Simon e Ozzie — respondeu Zê, enfiando a cabeça por entre outra cortina. — Procure do outro lado.
Não pude me mover. Minha mente foi tomada pela imagem de Ozzie implorando por minha ajuda, o corpo desfalecido após eu ter arrebatado a vida dele. Zê emergiu de novo da cortina, o rosto se transformando ao ver minha expressão.
— O que foi? — ele perguntou. — Sabe onde estão?
Sim, eu sabia. Ozzie devia estar em uma pilha de cadáveres, pronto para ser lançado no incinerador, os olhos sem vida fitando o teto. Ou era isso, ou já se transformara nas cinzas que revestiam a chaminé. Talvez algum pequeno fragmento carbonizado alcançasse, afinal, a superfície. Talvez dessa maneira ele conhecesse a liberdade.
Ou talvez apenas dissesse aquilo a mim mesmo para me sentir menos culpado por tê-lo matado.
— Alex, se sabe onde eles estão, precisa me contar. Os dois arriscaram a vida para nos tirar daqui. Não podemos deixá-los para trás.
Sacudi o corpo para me livrar da paralisia que ameaçava tomar conta de mim, e corri para o outro lado do aposento, olhando por entre uma das cortinas. O leito estava vazio. As manchas secas no colchão pareciam um vestígio do último ocupante.
— Não sei onde Simon está — falei. — Mas Ozzie está... acho que está morto.
Deixei o olhar passear pela enfermaria enquanto aguardava a rea- ção de Zê, mas, no momento em que nossos olhos se encontraram, ficou evidente que eu tinha certeza do que dizia. Ele congelou, a boca se abrindo de espanto, porém se conteve em fazer a pergunta que eu tanto temia.
— Temos que encontrar Simon e tirá-lo daqui — ele respondeu por fim, enfiando a cabeça por outro conjunto de cortinas, depois se desvencilhando dela um segundo mais tarde. Fiz o mesmo, deparando com um garoto de rosto enfaixado em um cubículo e mais alguns outros leitos vazios depois do dele. Quando me afastava da próxima cortina, ouvi a voz de Simon. Ela estava fraca contra o som contínuo da sirene ao fundo, mas sem dúvida era sua voz.
Zê a ouviu também, e percorremos juntos a enfermaria, escutando seu chamado nos intervalos silenciosos em que o alarme se calava. Depois de algumas tentativas sem sucesso, abrimos um conjunto de cortinas e o vimos amarrado ao leito, os olhos prateados tão brilhantes quanto o sorriso com que nos recebeu.
— Sabem de uma coisa? Vocês dois não entenderam ainda o significado de discrição, não é? — ele comentou, a voz com um traço de riso. — Pude ouvi-los conversando assim que entraram na enfermaria.
Rimos baixinho, Zê espreitando para fora da cortina enquanto eu desatava as amarras de Simon. Embora houvesse um suporte de soro ao lado de seu leito, ele não parecia ter passado por nenhuma outra cirurgia — o corpo desfigurado e apenas um dos braços enormes eram os mesmos que tinha visto da última vez. Ele se esforçava para se sentar, uma série preocupante de estalos emanando dos músculos ao se esticar.
— Pensei que o diretor tivesse desistido de você — comentei, recordando as histórias que Simon contava sobre ter sido um espécime rejeitado.
— Acho que ele resolveu me dar uma segunda chance — respondeu ele, dando de ombros. — E Ozzie? Ainda não o encontraram?
Meu olhar se perdeu no chão, a confissão pronta em meus lábios.
— Ele não conseguiu — Zê respondeu antes que eu pudesse falar. — Os ternos-pretos o pegaram. Sinto muito, Simon.
Apesar da sirene, um silêncio opressivo pareceu cair na enfermaria. Simon deu um soco na cama, e ouvi o soluço preso em sua garganta. Foi quase demais para suportar. O rosto de Ozzie mais uma vez dançava diante do meu, os olhos dele me encarando. Então senti a mão de Zê no meu braço, e a miragem desapareceu.
— Ele não gostaria que chorássemos por ele — disse Zê. — Com certeza, ia querer que déssemos o fora daqui. Certo?
— Certo — respondeu Simon, ficando de pé, mas ainda sem firmeza. Apoiou o braço maior no meu ombro, e cambaleamos para a frente como dois garotos superdesenvolvidos de uma raça com três pernas. Zê espreitou pela cortina mais uma vez, para ter certeza de que o caminho estava livre, e depois desapareceu, deixando para trás um clarão branco.
Seguimos atrás dele, encaminhando-nos para a cortina de plástico na extremidade mais distante da sala. Podia ouvir o som de tiros e o latido de cães, mas pareciam distantes. Tínhamos tempo.
— Esquerda ou direita? Por qual caminho? — perguntou Simon, enquanto passávamos pelo plástico frio. Tanto Simon quanto Zê se voltaram para mim, como se, pelo fato de usar um terno preto, devesse conhecer uma saída secreta. Odiei desapontá-los.
— Não tenho a mínima ideia. — Dei de ombros, o pulso acelerando ao ouvir o rosnado de cães se aproximando. — Não sei mesmo. Temos que encontrar um lugar para nos esconder até conseguirmos traçar um plano. As cavernas? A torre?
— Certo — Zê e Simon concordaram. — Vamos para lá.
Zê assumiu a liderança, avançando porta afora. A cada passo dado, esperava deparar com um pelotão de guardas e seus cães, mas felizmente as feras pareciam estar vindo de trás, das celas solitárias. Os depósitos eram um borrão nas sombras ao passarmos por eles, e atingimos o entroncamento em T, depois do qual chegaríamos às cavernas.
Torci para que a porta da abóbada ainda estivesse semidestruída, do jeito que os ratos a haviam deixado da última vez, mas, quanto mais nos aproximávamos do fim do corredor, mais claro ficava que a passagem tinha sido novamente selada. Agora não havia sequer a porta, apenas uma placa de concreto sólido que não se deslocava nem mesmo um milímetro quando nos arremetemos contra ela.
— Não tem jeito — grunhiu Simon, desferindo um soco patético na parede acinzentada. — Não podiam ter feito isso.
Mas haviam feito. Era evidente que o diretor ficara furioso pelo fato de os ratos terem invadido o complexo da prisão e lacrara a saída para as cavernas que havia ali. Estávamos realmente em um beco sem saída. Simon desferiu outro soco, mas dessa vez repousou a mão contra o concreto.
— Pete está lá — murmurou ele, o corpo todo trêmulo. Olhou para mim como se eu pudesse dar uma resposta à sua pergunta não formulada, mas apenas baixei os olhos. Pete não havia tido sorte com os experimentos de Furnace. Se ainda estivesse vivo, o que era bem duvidoso, considerando a falta de agilidade de seu corpo, não havia mais nada que pudéssemos fazer por ele. Simon afastou a mão do concreto vagarosamente, os lábios proferindo um adeus silencioso. Em seguida, a expressão endureceu.
— Há outra saída daqui, certo? — perguntou Zê, as palavras fragmentadas pela respiração entrecortada. — Pela ala norte. Lembro de você ter mencionado isso.
— Tenho quase certeza de que também foi selada — respondeu Simon, pressionando as articulações feridas das mãos contra o rosto.
— E, mesmo que não tenha sido, não voltarei para aquele lugar — declarei. — É lá que o diretor está, e também Gary.
Simon olhou para mim, visivelmente confuso, mas não havia tempo para lhe explicar. Em vez disso, andamos de um lado para o outro ao longo do corredor, ouvindo o som de botas dos guardas e o latido dos cães ficar mais altos, depois diminuindo ao se dirigirem à enfermaria. No entanto, aquela vantagem não duraria muito. Assim que os ternos-pretos conseguissem reanimar o diretor, ele lhes contaria em detalhes o que havia acontecido; então se dirigiriam para onde estávamos com a ideia fixa de extermínio na mente.
— Muito bem, vamos pensar — sugeri, encostando a cabeça em uma das mãos. — Precisamos encontrar um mapa ou algo assim, uma sala de segurança. Algum lugar onde a gente possa traçar um plano de fuga.
Simon e Zê se voltaram para mim, as sobrancelhas se arqueando como se eu tivesse acabado de dizer a coisa mais estúpida que já haviam ouvido.
— Claro — cortou Zê. — Devemos procurar a sala mágica de mapas, armas e rotas de fuga. Talvez um teletransportador. Muito bem pensado, Alex.
Lancei a ele um olhar de raiva, mas não pude deixar de lhe dar razão. Porém, fitando um ponto distante por sobre o ombro de Zê, outra lembrança veio à tona: o diretor sendo escoltado ao longo desse mesmo túnel, dirigindo-se a uma porta adiante no corredor. Com ela, vieram recordações mais distantes: um telefone tocando em uma sala, a voz do outro lado da linha, que me causara tanto pânico, embora nem a tivesse ouvido.
— Os aposentos do diretor — falei.
— O quê? — perguntou Zê. — Enlouqueceu?
— Ficam bem ali. — Apontei no corredor para uma porta incrustada na rocha. — Pensem nisto: com certeza, ele tem os mapas da prisão, ou algo parecido. Talvez a gente consiga achar uma saída.
— É verdade — concordou Simon, virando-se para observar a porta. — Ele deve ter armas também, talvez chaves. Mas...
Simon não precisava acrescentar mais nada. Sabia exatamente o que o preocupava. Mais memórias surgiram em minha mente como flores negras — a sensação que tivera da primeira vez em que havia estado naquele corredor, como se estivesse sendo observado por algo ruim, algo malévolo. Mesmo agora, pensar naquilo fazia meus ossos congelar.
— Mas nada — falei por fim. — Que escolha nós temos? Ficar escondidos num depósito até os cães nos farejarem? É nossa melhor chance. É a única chance.
Como se fossem imagens distorcidas um do outro, a expressões de Simon e de Zê relaxaram ao mesmo tempo, depois endureceram de novo.
— Alex — disse Zê, um tremor traindo a calma em sua voz —, este será o primeiro lugar para onde o diretor irá assim que voltar para cá. Não quero, mesmo, ser surpreendido por ele lá dentro.
Dei-lhe o melhor sorriso que pude. Em seguida, apressei-me para a porta dos aposentos do diretor, gritando por sobre o ombro:
— Então é melhor agirmos rápido.
O COVIL
A porta estava fechada, o que não me surpreendeu. Mas, quando Zê cautelosamente girou a maçaneta, não houve resistência — a porta se moveu para dentro da sala sem nada além de um rangido. Olhamos um para o outro, mal acreditando na sorte.
— Não esperava que fosse tão fácil — comentou Zê, agora abrindo a porta por completo. Além dela, havia um breve corredor, mais um hall de entrada, no final do qual podíamos distinguir um aposento pouco iluminado.
— Talvez o diretor não acredite que alguém seja estúpido o bastante para invadir os aposentos dele — constatei, pronto para dar um passo à frente.
— Ou talvez seja uma armadilha com explosivos — acrescentou Simon.
Congelei, a perna pairando sobre o chão rochoso abaixo de nós. Honestamente, não acreditava que houvesse armadilhas prontas, ali, para nos capturar se puséssemos o pé no covil do diretor, mas havia algo que me impedia de prosseguir. Não conseguia descobrir exatamente o que era; tinha apenas a sensação de que aquilo não estava certo, de que devíamos dar o fora dali o mais depressa possível. De repente, não importava mais que os ternos-pretos estivessem atrás de nós, ou mesmo os cães. A única coisa que importava no mundo era sair daquele lugar.
Olhei para Zê, a palidez doentia de sua pele evidenciando seu medo.
— Você primeiro — ele falou.
— Pedra, papel ou tesoura? — arrisquei, mas os dois garotos negaram com a cabeça. Tentei engolir, mas a garganta estava seca demais. — Muito bem, covardes, eu vou primeiro.
Finalmente deixei o pé descer ao chão, o eco alto demais, reverberando por toda parte do corredor. Havia luz suficiente à frente para que enxergássemos com clareza um aposento amplo mergulhado na penumbra, e, embora não houvesse sinal de vida, não pude deixar de sentir que algo ali dentro me observava.
Vamos, falei a mim mesmo, dando-me um pontapé mental no traseiro. Levantei a outra perna e transpus a porta, a sensação de entrar em um chuveiro quente me invadindo. Por um momento, achei que a sirene tivesse parado, mas depois percebi que ainda podia ouvi-la, embora parecesse vir de muito longe. Virei-me para ter certeza de que Simon e Zê me seguiam, e meu coração quase parou. Eles também pareciam estar distantes, apenas pontos no fim de um grande túnel negro, a voz nada além de um sussurro, um bater de asas de um pequeno pássaro.
Então pisquei, e os garotos estavam bem perto de mim de novo, a sirene penetrando em meus ouvidos, e o corredor tinha voltado a ser apenas um corredor.
— Você está bem? — perguntou Zê. — Parecia que tinha visto um fantasma.
Não respondi. Só enxuguei o suor frio da testa e tomei a dianteira corredor adiante. Simon fechou a porta com suavidade atrás de nós, e, depois de apenas alguns passos, nos vimos em outro mundo.
— Cristo Redentor! — murmurou Zê. — Esse cara é totalmente pirado.
— Como se ainda não soubéssemos disso — completou Simon em um fio de voz, parecendo que a sala tinha lhe roubado a capacidade de respirar.
Marcando presença no aposento, havia uma bandeira. Ela pendia do teto, cobrindo uma parede inteira. Exibia um fundo vermelho-sangue, sobre o qual havia o desenho de um círculo branco. A insígnia preta dentro dele poderia ser qualquer outra coisa, mas, em vez disso, mostrava o logotipo de Furnace: os três círculos dispostos em um triângulo, cada um com um ponto no centro, conectados por linhas finas.
Abaixo da bandeira havia uma escrivaninha, maior que uma mesa de bilhar e feita de madeira tão escura que parecia uma tora queimada. Escavada nela encontravam-se figuras, e tivemos que dar alguns passos em sua direção para descobrir o que eram. Não demorou nada para que nos arrependêssemos.
Cada entalhe mostrava um garoto, não mais velho que nós, sendo executado. Sobre uma das pernas da mesa havia o cadáver retorcido e em pele e osso de alguém na forca, o semblante franzido em uma expressão de puro terror. Acima dele, ornamentando o painel entre a perna e o tampo da escrivaninha, estava um garoto num banco de tortura, o corpo todo esticado e de ossos quebrados sem possibilidade aparente de reparo, embora a dor evidente no olhar fosse a de alguém que lutasse com unhas e dentes pela própria vida. Próximo a este, encontrava-se um adolescente enfrentando um pelotão de fuzilamento, o rosto coberto por um capuz. Em toda parte onde meus olhos pousavam, havia pesadelos semelhantes, o trabalho tão minucioso que fazia a bile me subir à garganta.
E, escritas ao longo da extremidade da escrivaninha, entalhadas em letras do tamanho de minha mão, estavam três palavras:
TODOS SÃO CULPADOS.
A escrivaninha trouxe de volta mais lembranças que achei terem se perdido para sempre — eu em um ônibus com Zê e alguns outros garotos, vendo se avolumar à frente o prédio de Furnace, o Forte Negro, crescendo cada vez mais, até bloquear a visão das janelas. Lá também havia figuras entalhadas na pedra, as mesmas cenas de tortura e morte, e aquela palavra — CULPADO — adornando o alto da porta, o último vislumbre do mundo lá fora que achei ter tido. Se havia alguma escrivaninha que combinasse perfeitamente com Furnace, era aquela monstruosidade.
Mas nem mesmo aquele móvel me causava tanto medo quanto o que estava sobre ele. A enorme extensão de madeira polida não tinha nada sobre ela, exceto uma coisa.
Um telefone.
Parecia um objeto de décadas atrás, algo que minha avó poderia ter tido em sua casa, negro e sólido, com um disco no centro e um pequeno receptor montado sobre um forcado de latão. Só de olhar para ele, senti a vida ser arrebatada de mim, esvaída poros afora, evaporando dentro do calor nauseante do aposento. Imaginei minha alma sendo arrancada do corpo, tornando-se parte da escrivaninha diante de mim, meu rosto congelado em um grito de horror entalhado na madeira por toda a eternidade.
— Alguém quer dar um telefonema? — perguntou Zê, sua voz me fazendo dar um salto. Afastei o olhar do telefone, examinando o resto do aposento. Estava vazio, exceto por uma poltrona de couro do lado oposto da escrivaninha, a superfície tão limpa e nova que parecia nunca ter sido usada.
— Não quero chegar nem perto dessa coisa — ouvi Simon responder. — E, de qualquer maneira, para quem ligaríamos? Para a polícia?
— Talvez haja papéis dentro da escrivaninha — sugeri. — Mapas da prisão.
Zê e Simon concordaram com um gesto de cabeça, mas nenhum deles se mexeu. Por um segundo, nós três ficamos apenas olhando fixamente para os cruéis entalhes, perdidos em pensamentos macabros. Fui eu quem mais uma vez rompeu a paralisia coletiva.
— Isto é ridículo — falei, aproximando-me do móvel. — É apenas uma escrivaninha.
Minha confiança decaiu um pouco quando atingi o outro lado da vasta mesa. Ali também havia entalhes, mas não mostravam execuções. Num relance, vi que o cenário geral era um campo de batalha, os detalhes com certeza realistas demais para uma gravura, um menino sendo levado por homens que usavam máscaras de gás. Abaixo deste, decorando uma das grossas pernas da mesa, havia outro garoto em uma mesa de cirurgia, gritando enquanto sua pele era arrancada por um Ofegante. Se os entalhes na frente da escrivaninha eram perversos, estes então eram totalmente aterrorizantes, ainda mais agora, que tinha consciência de que as cenas mostradas eram reais. As palavras deste lado diferiam um pouco das do outro:
TODOS ESTÃO SALVOS.
Passei os dedos sobre as letras, a madeira quente e lisa se assemelhando à pele de alguém. Não havia gavetas na escrivaninha — pelo menos nenhuma que eu pudesse ver, tampouco divisórias repletas de mapas ou ganchos ocultos com chaves penduradas. Não havia nada. Estava prestes a relatar essa constatação a Zê e Simon, quando meu dedo deslizou sob o fundo do tampo da escrivaninha e tocou algo frio e redondo. Abaixei a cabeça, olhando em meio à penumbra lá embaixo para ver o que era. Um botão.
Pensei em apenas duas funções que pudesse ter. A primeira era fazer soar um alarme — como o botão do pânico portátil do diretor. Se esse fosse o caso, não importava ativá-lo ou não, uma vez que a sirene já ecoava por toda a prisão. A outra possibilidade era...
Eu o pressionei, levantando-me a tempo de ver uma porta oculta se abrir em uma das paredes, provocando um som ensurdecedor de rocha atritando contra rocha. Simon e Zê também ouviram, gritando em uníssono ao se atirarem ao chão, tentando se proteger. Tudo o que emergiu foi uma forte luz branca que os transformou em espectros de si próprios.
— Cristo, um pequeno aviso teria sido ótimo — comentou Zê, uma das mãos sobre o coração. — Quase molhei a calça.
Ri, circundando a escrivaninha para investigar. Durante alguns segundos, não distingui nada em meio ao clarão; era como olhar direto para o sol. Então percebi que algo à frente se movia, pontos brancos contra o fundo brilhante, como pássaros voando. Meu coração saltou quando lembranças do mundo lá fora me assaltaram, visões de praias, luz do sol e brisas do mar. Em pouco tempo, meus olhos se acostumaram à luz, e o aposento voltou a entrar em foco.
— Caramba! — disse Zê, aproximando-se e me dando um empurrão. — Caramba, encontramos a central disso aqui.
Simon e eu o seguimos lá para dentro. Ele tinha razão. O aposento secreto era do mesmo tamanho do que havíamos acabado de deixar, mas ali terminava a semelhança entre os dois. O movimento que tinha percebido vinha dos monitores de TV, que tomavam quase uma parede inteira, cada um exibindo uma cena de um lugar diferente da prisão. Aproximamo-nos mais, deixando os olhos percorrer cada um dos filmes granulados.
— Essa é a área onde fica a maioria dos prisioneiros — disse Simon, apontando para uma tela que mostrava a cantina. Ela estava vazia, os detentos naquele momento confinados às celas. Podia vê-los nos outros monitores, o rosto pálido olhando através das grades, corpos magros em beliches, e a sensação de nostalgia que tomou conta de mim me pegou de surpresa. Jamais imaginei que sentiria saudade da minha cela lá em cima.
— Como conseguimos provocar uma explosão em Furnace? — perguntou Zê. — Há câmaras em toda parte.
— Não nas salas de escavação — respondi, sem ver sinal delas nos monitores. — Elas foram criadas depois que a prisão já estava aberta, lembrem-se. — Procurei a cozinha e vi que o ângulo da câmera se dirigia para as portas em vez de para o fogão, e apenas uma pequena porção dele era visível. Apontei para o monitor. — Esse, sim, foi um golpe de sorte.
— Aquele não é o diretor? — perguntou Zê. Juntamo-nos ao redor da tela e vimos um grupo de ternos-pretos inclinados sobre uma forma imóvel no chão. A imagem não estava muito clara, mas a figura era inconfundível.
— Acho que você o nocauteou — falei, batendo amigavelmente nas costas de Zê.
— Foi você quem fez isso? — perguntou Simon. Zê assentiu com a cabeça, depois olhou para mim.
— Bem, Alex fez a maior parte do trabalho. Só dei uma ajudinha extra. — Ele soltou um ruído esganiçado que não era bem uma risada. — Devia era ter matado o canalha.
— É — murmurou Simon. — Devia mesmo. Mas, pelo menos, sabemos que ele está fora de ação. Isso nos dá algum tempo.
A visão do diretor inconsciente no outro lado das entranhas da prisão tirou um pouco da tensão de minhas costas. Respirei fundo, estudando os monitores em busca de uma pista para nossa fuga, qualquer saída que fosse. Então vi algo que quase partiu meu coração.
— Vejam — falei, sentindo a pele arrepiar. Ergui um dedo trêmulo e apontei para o canto direito no alto da tela, uma visão que não pensei que fosse ter de novo. — Ainda está lá.
— O que...? — Zê começou a dizer, mas o resto da pergunta se desvaneceu no ar. Pelo que pareceu uma eternidade, olhamos para o monitor, um vídeo ao vivo transmitido de uma câmera que devia estar montada ao lado do Forte Negro, capturando imagens do mundo que achávamos ter perdido. A tela podia ser pequena, mas aquele vislumbre da luz da lua e do asfalto pareceu maior que um campo de futebol, uma expansão infinita de uma porção de chão sem paredes nem grades. Sentia-me viajando pelos cabos, atingindo a outra extremidade e emergindo na noite como um espírito livre.
— Está chovendo — Simon comentou. E isso fez com que nós três desmoronássemos. Eu esperava que não houvesse câmeras ali, porque não deveríamos compor uma visão bonita, os três agarrados um ao outro, chorando como bebês. Sei que parece loucura, mas nenhum de nós esperava de fato ver o mundo lá fora de novo. Não sabíamos mais sequer se ele ainda existia. E, no entanto, lá estava ele, em um glorioso preto e branco, bem acima de nossa cabeça. Não conseguiria impedir as lágrimas, nem que minha vida dependesse disso.
Saímos juntos daquele torpor, tossindo, constrangidos, e evitando qualquer tipo de contato visual. Quando enfim conseguimos nos olhar de novo, a mesma força irrefreável que nos fez chorar provocou em nós três um ataque de risos que jorraram da garganta como vulcões. Por fim, esse acesso também passou, deixando-nos exaustos, embora animados.
— Está bem aqui em cima, rapazes — falou Zê, quando o eco das últimas risadas morreu no ambiente. — Podemos fazer isso.
— Então vamos lá — respondi. — Vamos dar o fora daqui.
UM PLANO
Quando por fim conseguimos afastar os olhos dos monitores, percebemos que eram, na verdade, o que de menos útil poderíamos encontrar naquela sala.
— Puxa, cara — disse Zê, o tom de voz repleto de respeito. — Se o diretor estivesse aqui agora, eu seria capaz de beijá-lo.
Encaminhou-se para o lado direito da sala, onde um armário de vidro e aço continha uma série de armas que teriam deixado orgulhoso qualquer mercenário. Zê se aproximou do armário e puxou uma espingarda, os braços magros obviamente se esforçando para lidar com o peso. Colocou-a no ombro, mirando-a com selvageria em todas as direções.
— Calma, garoto — gritou Simon, abaixando a cabeça e protegendo o rosto com seu braço tamanho mamute. — Não quero ter meu traseiro cheio de balas.
— É provável que não esteja nem carregada — respondeu Zê, apoiando no ombro o cano da enorme arma, enquanto pressionava os vários botões existentes em sua extensão. Ainda encarando-o com certa desconfiança, Simon foi até outro armário, próximo do primeiro, e o vi colocar algo longo e metálico dentro do bolso.
Deixei-o entregue àquilo, voltando a atenção para a parede oposta. Suspensa ali, e emoldurada em vidro e madeira, havia uma planta da prisão, cada corredor e aposento mostrado em uma rede bidimensional de finas linhas brancas. Mesmo em miniatura, o lugar parecia imenso, o Forte Negro na superfície apenas um ponto se comparado ao monstruoso leviatã que se escondia sob ele — o ápice do pesadelo que era Furnace.
E estávamos totalmente entranhados nele.
— Você está aqui — murmurei para mim mesmo, correndo o dedo pela teia de aranha de linhas até encontrar o lugar onde estávamos. Aproximei-me para ver melhor, pois os aposentos do diretor eram do tamanho de uma pipoca, quase perdidos na imensidão que ficava sobre eles. Corri o dedo para cima, através dos andares sem fim do corpo principal da prisão, e cheguei à superfície, à liberdade.
— Tenho o pressentimento de que não vai ser tão fácil — disse Simon por trás do meu ombro. — Consegue ver alguma saída aí?
Voltei para o ponto de partida, concentrando-me com dificuldade na planta. Já tinha percebido que as entranhas da prisão eram um aglomerado de túneis, alas e depósitos, mas até o momento não fazia ideia da complexidade real daquele lugar. Os túneis se espalhavam em todas as direções, aparentemente de modo aleatório, como raízes de uma árvore. Mas nenhum deles levava a lugar algum, exceto ao ponto onde haviam começado.
— Essas duas portas eram a única saída para as cavernas — constatei, apontando no mapa o lugar onde o túnel em que estávamos terminava e, em seguida, o outro ponto no lado norte. As duas portas haviam sido marcadas com um X vermelho. — Mas, mesmo que encontrássemos uma saída, ficaríamos presos lá na escuridão. De lá não há caminho para a superfície, lembram-se? A torre era nossa melhor opção, e falhamos.
— E o que faremos, então? — perguntou Zê, aproximando-se de nós. Eu podia sentir o cheiro de pólvora da arma que ele ainda segurava, o odor fazendo meu estômago revirar. — Não há nenhuma saída de emergência?
— Nada — respondi, examinando as plantas em busca de alguma saída oculta, talvez algum elevador secreto que subisse à superfície. Fazia sentido uma rota de fuga na eventualidade de um incêndio, ou no caso de uma rebelião. Quero dizer, se os detentos tomassem a prisão, o diretor precisaria de um caminho para dar o fora dali.
Só que ninguém contava com algo assim, não em Furnace.
Porque, pelo que eu podia ver, havia apenas uma saída para a superfície. Segui com a mão a única linha branca que percorria a prisão, desde os níveis mais inferiores da parte principal até o Forte Negro.
— O elevador? — perguntou Simon. — Nem pensar.
— É a única saída — respondi. — Vê alguma outra ligação com a superfície? Todo lugar nesta planta é um beco sem saída, exceto este aqui. — Bati o dedo contra o vidro para enfatizar minha opinião. — O elevador, se conseguirmos chegar até ele, é a única alternativa.
— Mas ele fica no corpo principal da prisão — retrucou Zê. — Como chegaremos lá?
— E sabemos que aquele não é um elevador comum — acrescentou Simon. — Não há como saltar dentro dele, pressionar o botão da cobertura, sentar e desfrutar da subida. É provável que nem seja possível operá-lo por dentro.
— Uma coisa de cada vez — repliquei, estudando a planta para tentar encontrar um caminho que nos levasse ao corpo principal da prisão. Se a parte inferior era como as raízes de uma árvore, o corpo principal era a outra metade. Embora ambas as partes se espalhassem em todas as direções, só havia um ponto estreito onde se encontravam. Bati de novo o dedo em um ponto da planta.
— É para aqui que precisamos ir. Lá embaixo, passando a enfermaria; lembram do entroncamento que se divide e dá para as celas da solitária? Acho que é ali. Desta vez, tomaremos a direção contrária e sairemos neste lugar. Pelo que vejo, há outro elevador ali, um menor, que vai até a base da prisão. Concordam?
— Você é quem manda, chefe — respondeu Simon. — Vamos nos equipar e cair fora daqui.
Arranquei a moldura da parede, arrebentando-a no chão e, com cuidado, tirei a planta do amontoado de cacos de vidro. Foi quando a dobrava para enfiá-la dentro do terno que percebi Simon encarando meu peito com grande espanto.
— Algo o acertou de jeito aí — ele comentou. — Olhei para baixo, correndo uma das mãos ao longo das marcas de garras que Gary havia deixado em minha camisa e na pele sob ela. A dor havia praticamente desaparecido, tanto que me esquecera por completo do ferimento, e uma grossa cicatriz negra já se formara sobre a ferida. Simon lançou um olhar conspirador para Zê, que ainda se ocupava da espingarda, e depois se voltou para mim.
— A única razão de ainda estar de pé é o néctar — prosseguiu ele. — Do contrário, o ferimento o teria matado. Como está se sentindo? Um pouco tonto? Fraco?
Fiz que não com a cabeça, mas, agora que ele havia mencionado, já não me sentia tão forte quanto antes. Pisquei e, por um segundo o aposento pareceu girar, embora tivesse absoluta certeza de que aqui- lo era efeito da minha imaginação. Arranquei a gravata, atirando-a ao chão e respirando profundamente.
— Mais cedo ou mais tarde, o suprimento de néctar que há dentro de você vai secar, e não vai ser nada agradável. Já passei por isso. — Ele acenou para mim com o braço deformado como se quisesse me lembrar da existência dele. — Essa coisa é como uma droga. Quanto mais você tem, mais você quer. E sem ela o corpo fica fraco. Na melhor das hipóteses, você deixa de ser um homem de aço e volta a ser apenas um garoto de novo. Mais forte do que era, é claro, e também maior, mas não um páreo para um terno-preto. Eu tive sorte, foi isso o que aconteceu comigo.
— E qual é a pior hipótese? — perguntei, flexionando os músculos sob o terno apenas para me assegurar de que ainda estavam lá.
— Há outras duas possibilidades — respondeu ele num fio de voz. — Na primeira, você morre. O corpo não consegue lidar com uma nova forma sem o néctar para estimulá-lo, e simplesmente se desintegra.
— Ótimo — respondi.
— Essa é a boa notícia. A alternativa é seu corpo permanecer o mesmo, mas a mente se deteriorar. Você enlouquece, fica esquizofrênico. Torna-se um milhão de vezes pior do que aquilo em que o transformaram.
Não respondi, tentando não pensar nas palavras de Simon. Mas como poderia ignorar aquela informação? Havia uma boa chance de que, mesmo que conseguisse sair dali, terminasse agonizando de maneira terrível ou me tornasse algum tipo de monstro psicopata que vagaria, enlouquecido, pelas ruas. Simon deve ter notado minha expressão de pânico, pois colocou a mão em meu ombro, apertando-o com delicadeza.
— Só estou lhe dando um alerta, nada mais — prosseguiu ele. — Já passei por essa fase, lembre-se. Sei como é, e ainda sou eu mesmo. Bem, mais ou menos. Na verdade, você recebeu muito mais néctar do que eu, mas provavelmente há médicos na superfície que poderão curá-lo, hospitais e...
Em um aposento pequeno, um tiro de espingarda era ensurdecedor. Sentia como se meus tímpanos tivessem explodido; a dor era tão grande que pensei ter sido atingido. Mergulhei no chão, sentindo Simon a meu lado, e olhei em volta desesperadamente em busca da origem do ataque. Mas não havia ali nenhum terno-preto, tampouco o diretor. Apenas Zê, segurando a espingarda fumegante nas mãos, o rosto contorcido em uma careta de choque.
— Opa, foi mal — ele falou. Ou, pelo menos, acho que foi o que falou; os tinidos em meus ouvidos ainda tocavam como sinos de igreja. Vi Simon se levantar e pude ler os xingamentos que saíram de seus lábios. Também me levantei e proferi minha cota. Vários monitores tinham se apagado, havendo dezenas de orifícios no vidro onde momentos atrás existiam figuras. Rastros de fumaça negra subiam devagar em espirais, acumulando-se no teto.
— Seu idiota! — gritou Simon, passando a mão na nuca e afastando-a, para revelar uma fina linha preta entre os dedos. — Você atirou em mim!
— Passou de raspão! — replicou Zê, colocando a espingarda no chão e erguendo as mãos. — Não sei o que aconteceu; simplesmente disparou.
— Você puxou o gatilho, foi isso o que aconteceu — retrucou Simon. — E quase explodiu minha cabeça.
Tentei conter um sorriso, mas não consegui. Ele se estampou no meu rosto como uma máscara de palhaço, e deve ter sido contagiante, pois logo Simon e Zê também sorriam.
— Não entendo o que há de tão engraçado — resmungou Simon, tentando, sem sucesso, manter a expressão séria enquanto esfregava a nuca. — Zê, talvez seja melhor deixar a arma aqui. Nossas chances serão maiores se conseguirmos nos manter inteiros.
Zê assentiu com a cabeça, chutando a arma para longe, tal uma cobra peçonhenta. Encarei-a por um segundo, imaginando se deveríamos ou não levá-la conosco. Afinal, os ternos-pretos estavam armados, e precisávamos de todo o poder de fogo que conseguíssemos. Mas, na verdade, havia o risco de atirarmos um no outro na correria de escapar dali, e pensar na expressão satisfeita do diretor quando descobrisse que havíamos feito o trabalho por ele era demais para suportar.
Enfiei a planta no bolso do paletó e passei um rápido olhar pelos monitores que restavam. Havia menos ternos-pretos com o diretor agora, sendo grande a possibilidade de o restante ter se encaminhado para onde estávamos. Tínhamos de sair dali. Corri para a porta, voltando à sala da escrivaninha e me encaminhando para o corredor além dela.
Foi nesse instante que o telefone tocou.
O ruído do tiro da espingarda havia sido alto, mas aquele era um milhão de vezes pior. Só que não era o mesmo tipo de ruído. Este parecia explodir bem dentro do meu cérebro, um som tão penetrante que quase adquiria forma — uma luz branca e ofuscante que me fez cambalear e cair. Tentei tampar os ouvidos, mas não adiantou; o toque estridente se enterrava em minha cabeça como um verme traiçoeiro pondo seus ovos.
E cada um dos ovos explodia em visões que faziam tudo o mais já visto por mim parecer cenas extraídas de um livro infantil, até mesmo os pesadelos que emanavam do olhar do diretor e os sonhos que tivera ao encherem minhas veias de néctar. Era como se os entalhes da escrivaninha tivessem adquirido vida, cada cena sendo executada com detalhes aterrorizantes. Assisti a cada uma daquelas pobres almas morrer repetidas vezes, aqueles poucos segundos potencializados por uma infinidade de dor e sofrimento.
Foi Zê que pôs fim àquilo. Após o agitado oceano vermelho que cruzou minha visão, eu o vi se mover para a frente, uma das mãos se afastando do ouvido para arrancar o telefone da mesa. O voo foi contido pelo fio que o ligava à parede, o gancho se soltando, e o aparelho atingindo o chão ao lado da minha cabeça.
O tinido cessou, mas foi substituído por algo muito pior — uma presença que pareceu engolfar minha mente com uma névoa densa de sombras. Olhei para os orifícios do fone, do qual parecia emanar algo rançoso e podre da parte mais obscura do mundo.
Furnace. Alfredo Furnace.
Resolvi sair dali, um pouco correndo, outro tanto engatinhando, mas sempre rumo à porta, sentindo dedos invisíveis penetrar em minha cabeça, sondando meus pensamentos e deixando um rastro de sujeira e decomposição por onde passavam. Só quando abri a porta e saí para o corredor à frente é que a sensação diminuiu, sendo expurgada de mim enquanto descarregava o conteúdo do estômago sobre a superfície de pedra avermelhada. Zê e Simon caíram a meu lado, também vomitando e chorando.
Em seguida, levantamos e voltamos a correr juntos, não importando mais para onde íamos ou quem nos visse, contanto que nos afastássemos daquele lugar, daquele telefone. Mas não conseguimos nos afastar rápido o bastante para escapar daquela voz, um sussurro malévolo que saiu do telefone e nos seguiu pelo corredor, sem conter nem uma palavra, mas transmitindo uma fúria desenfreada cujo significado todos entendemos.
Estou indo aí para pegar vocês.
A SUBIDA
Quanto mais nos afastávamos dos aposentos do diretor, menos aterrorizante a voz se tornava, embora tivesse entalhado sua mensagem em nossa cabeça como um cinzel em uma lápide. Diminuímos a velocidade da corrida, o temor indizível substituído por um medo muito mais realista — ser capturado nos corredores por um terno-preto. A primeira situação podia ter me apavorado, mas a segunda significava morte instantânea.
Mesmo em meio ao pânico, conseguimos seguir pelo caminho certo, tomando o corredor que conduzia às celas solitárias. Eu já avistava as tiras de plástico da entrada da enfermaria à frente, e nos mantivemos calados até a porta cortinada ficar bem para trás.
— Não aconteceu de verdade, aconteceu? — perguntou Zê, a voz pouco mais que um sussurro entrecortado pela respiração pesada. — Quero dizer, foi uma alucinação coletiva ou algo assim, certo? Vi um programa sobre isso, as pessoas imaginando a mesma coisa e achando que era real.
— Foi real — respondeu Simon, a cabeça oscilando de um lado para outro sem parar, enquanto examinava o caminho adiante e o corredor atrás de nós. — Ouvi aquele telefone tocar algumas vezes, e é sempre a mesma coisa: parece um torno apertando a cabeça da gente. Alex também já tinha sentido isso, não tinha?
— Sim — respondi, lembrando de quando ouvira o telefone pela primeira vez, a dor insuportável na cabeça, o corpo incapaz de se mover. — Mas eu não estava bem do lado dele como agora.
O fim do corredor se aproximava, o entroncamento em T visível à frente. Passamos a avançar lentamente, na ponta dos pés, no caso de haver algo, ou alguém, esperando por nós. Não se ouvia nenhuma voz ou grunhido, e, quando esgueiramos a cabeça em um canto para espiar o caminho à frente, não encontramos nada à vista em nenhuma direção.
Algo brilhava no chão à direita, e demorei um instante até reconhecer os alçapões da solitária. Minha garganta embolou diante da recordação, levando-me para um tempo antes de ter sido retalhado em pedaços; antes que o néctar tivesse sido introduzido em minhas veias; antes de haver conhecido a verdade sobre Furnace.
Um tempo em que Donovan ainda vivia.
Tudo aquilo parecia ter ocorrido meses atrás, talvez anos. Mas quanto tempo teria decorrido na verdade? Dias? Semanas, no máximo. Não tinha ideia de quanto tempo ficara inconsciente ao longo dos procedimentos cirúrgicos. Quanto tempo o diretor teria roubado de mim enquanto me transformava em outro de seus monstruosos ternos-pretos?
— Quem era? — perguntou Zê, a voz mais alta agora, mais urgente. — Quem era do outro lado da linha?
— Furnace — Simon e eu respondemos, e, embora tivéssemos falado juntos, mal se ouvia a resposta, como se temêssemos que a simples menção do nome pudesse fazê-lo surgir em um passe de mágica. Talvez pudesse, quem sabe? Já tinha visto de tudo ali.
— Furnace? Quer dizer... o cara que construiu este lugar? — Zê prosseguiu. — Mas como ele entra na nossa mente desse jeito? Meus ouvidos estão sangrando, por Cristo! Os seus, também. Não está certo.
— Não me diga! — retrucou Simon, pegando a dianteira do túnel à esquerda. O caminho parecia dar em nada além de penumbra; mesmo meus olhos prateados eram incapazes de distinguir o que preenchia a escuridão. — Não há nada certo quando se trata desse homem. Se quer saber, o melhor é a gente esquecer isso até conseguir dar o fora daqui.
— Mas ele disse que estava vindo atrás da gente... — insistiu Zê, o resto do protesto sendo cortado quando Simon o agarrou e o pressionou contra a parede.
— Falei para esquecermos isso — advertiu ele. — Temos coisas demais para pensar. Vamos nos concentrar apenas em nos manter vivos por aqui, sem esses joguinhos mentais para nos confundir ainda mais, está bem?
— Está bem. Cristo! Calma, cara — respondeu Zê, a voz expressando o estado de choque em que estava. Simon o soltou e continuou a andar, a expressão de desolamento de Zê se desviando dele e se voltando para mim: — Que foi que eu falei?
— Simon está certo — disse. — Não vale a pena pensar nisso. Devemos nos esforçar ao máximo para encontrar uma saída. Se Alfredo Furnace vier até aqui, então teremos que chutar o traseiro dele da mesma maneira que chutamos o do diretor.
Achei que Zê havia respondido com um resmungo, mas logo percebi que o ruído não tinha vindo dele. Ouvi gritos soar atrás de nós no corredor, o som familiar de botas de ternos-pretos contra a rocha pontuado pelos latidos selvagens dos odiosos cães sem pele. Vinham certeiros em nossa direção.
Praguejando, dupliquei a velocidade, a dor nas pernas agora sem ter nada a ver com minha imaginação. Estava ficando mais fraco, como um carro tentando andar sem combustível. Podia sentir o poder do néctar se desvanecendo a cada segundo.
— Lembra do caminho? — gritou Simon lá da frente. As sombras haviam se separado como se as tivéssemos cortado, revelando outro entroncamento.
Examinei a planta.
— Para a esquerda — gritei em resposta. — Vá para a esquerda, e logo encontraremos o elevador.
Simon chegou ao fim do túnel, desaparecendo à esquerda. Eu estava bem atrás dele, correndo tão depressa que tudo o que pude fazer foi me abaixar com rapidez quando uma espingarda disparou bem diante do meu rosto.
O tiro não me alcançou, mas a nuvem de fumaça que saiu do cano da arma me atingiu em cheio. Girei e caí de costas, o impacto fazendo-me deslizar pelo chão liso e aterrissar nas pernas de um terno-preto. Ele tombou sobre mim como o tronco de uma árvore cortada, o cotovelo me acertando no estômago e tirando o ar dos meus pulmões. O guarda gritava alto, mas meus tímpanos haviam sido atingidos de novo, e a voz era sufocada por um ruído abafado e contínuo.
A espingarda disparou mais uma vez, mas não parecia que o terno-preto mirasse alguma coisa. Pude ver braços em torno de seu pescoço, um pequeno e outro maciço, enquanto Simon tentava sufocá-lo. Engasguei, tentando buscar o ar, e dei um soco na cara do terno-preto. Não sei na verdade o que tentava fazer, mas funcionou, pois o homem deslizou do meu peito e caiu no chão. A pressão do braço de Simon em torno da garganta do outro guarda não diminuiu, até que arranquei a mão dele dali e o afastei.
— O que está fazendo? — ele perguntou. — Deixe eu terminar isso aqui.
— Ele é um de nós — falei, ofegante. — Simon, ele é um garoto como nós. Não podemos matá-lo; não se pudermos evitar. Talvez todos eles possam ser salvos.
O terno-preto grunhiu, e Simon colocou de novo a mão gigantesca em torno da garganta dele.
— Acha mesmo que ele vai ficar do nosso lado, que vai enxergar como a conduta dele está errada? — sussurrou Simon, a mão fazendo pressão com toda a força possível. Vi o brilho em seus olhos, fendas prateadas reluzindo de puro ódio, e dessa vez não tentei detê-lo. — Ele está acabado. Todos estão. Você e eu tivemos sorte, e talvez alguns outros possam se lembrar de quem eram. Mas não vou enviar um questionário a eles para descobrir quem são, enquanto o resto me esfola vivo. Todos eles têm o veneno do diretor nas veias, e são todos assassinos.
Ele disse mais algumas palavras, os murmúrios perdidos sob grunhidos, como se, ao falar, pudesse se distrair do que fazia. O guarda tremeu com violência, como uma máquina enguiçada, e depois ficou imóvel, um último suspiro saindo de seus lábios. Simon o deixou tombar, caindo também de joelhos, e em seguida se escorou na parede para se levantar.
— Ele lhe deu uma chance de provar quem você era antes de puxar o gatilho? — ele perguntou, sem esperar pela resposta, apenas se virando e se afastando. — Nada vai me deter; não agora que estamos tão perto.
O som de vozes se aproximava, e relanceei o olhar para trás a tempo de ver Zê avançar, cambaleante, passar por mim aos tropeções e sair como uma flecha atrás de Simon.
— Estão bem ali — gritou ele por sobre o ombro. — Jesus, Alex, estão a um passo de distância.
Não esperei para constatar se era ou não exagero da parte dele, quase tropeçando no guarda morto enquanto começava a correr. Simon já havia atingido o fim do corredor, aberto uma pesada porta de aço e desaparecido em um fosso de luz brilhante à frente. Zê, no encalço dele, me olhava por sobre o ombro com os olhos mais arregalados que eu já havia visto.
— Corra! — ele gritou, a palavra se perdendo em meio a uma rajada de tiros.
Senti balas me atingindo as costas, como uma centena de abelhas me picando ao mesmo tempo. O impacto me projetou para a frente, mas continuei de pé, atirando-me porta de aço adentro. Rolei desajeitadamente, captando um vislumbre através da porta antes que Simon a fechasse: um corredor repleto de ternos-pretos e cães pegajosos, os olhos prateados como a crista de um tsunami se esgueirando em nossa direção. A onda quebrou contra uma placa de aço, Simon girando a fechadura para mantê-la no lugar.
— Agarre aquela escrivaninha! — ele gritou, a urgência das palavras me motivando a levantar de novo.
Vi uma escrivaninha de metal e uma cadeira à frente, provavelmente o posto de guarda onde o terno-preto estava sentado antes de ouvir nossa aproximação. A porta foi golpeada várias vezes do lado de fora, protuberâncias aparecendo no metal enquanto os ternos-pretos imprimiam toda a sua força ao ataque. Lembrei de como eu mesmo abrira caminho através da escotilha do túnel do rio. Aquela porta não aguentaria muito tempo.
— Ali — sugeriu Simon, ajudando-me a levantar a pesada mesa e a colocá-la contra a porta. Ela vibrou com a força direcionada contra ela, como uma cerca de estacas no caminho de um furacão. Examinamos o lugar, procurando outra coisa que pudéssemos usar como barricada, mas a sala estava vazia.
Exceto por uma coisa.
— O elevador — disse Zê, apontando para os portões de arame que se encontravam em uma das paredes. Além deles havia uma plataforma, muito menor do que a do elevador principal que subia à superfície, mas grande o bastante para nós três.
Corremos até ele, o estrondo dos guardas tentando arrombar a porta quase tão alto quanto o silvo da sirene. Simon agarrou um dos portões enquanto eu cuidei do outro, e juntos os abrimos. Quando os fechamos atrás de nós, a porta que dava para o túnel já quase se soltava das dobradiças, dois conjuntos de caninos ferozes deixando-se entrever pela passagem que só se ampliava.
— Vamos dar o fora daqui! — gritei, e vi um painel de controle atrás do ombro de Simon. Ele se virou, dando um soco contra o botão de cima. O elevador começou a subir, agonizantemente lento. Em meio ao caos, vi enfim a porta do túnel ceder, esmagando a escrivaninha que a amparava, e os guardas irrompendo sala adentro. Por um segundo, a superfície do elevador adquiriu vida com centelhas de disparos de armas, mas já saíamos do campo de visão, e o ataque cessou.
Nenhum de nós falou, temeroso de que os ternos-pretos acionassem um dispositivo que fizesse o elevador descer ou nos deixasse encalhados ali, apenas à espera de que viessem e nos pegassem. Mas o elevador continuou a subir, levando-nos aos níveis inferiores do corpo principal da prisão.
— Tudo bem com você? — perguntou Zê. Fiquei imaginando o que ele queria dizer, mas depois me lembrei dos ferimentos nas costas. Não doíam tanto quanto coçavam, mas o fato de haver alguma sensação ali, de qualquer tipo, significava que o néctar continuava a correr. Pensei no que aconteceria quando a última gota secasse. Meus ferimentos já estariam curados ou acabariam me matando?
— Estou ótimo — respondi. — Foi só um arranhão.
— Sei... uma rajada de balas nas costas, e foi só um arranhão — ele retrucou, embora não houvesse nenhum traço de humor na voz. — Quer que eu dê uma olhada?
Balancei a cabeça. Era melhor ninguém examinar, assim podia fingir que tudo acabaria bem. Virei-me para os portões de arame, meus olhos observando as rochas por onde passávamos. Não tinha conferido a planta, mas era óbvio que a parte principal da prisão encontrava-se bem acima do aglomerado de túneis. Aquela pequena vantagem de tempo era providencial; me ajudaria a respirar com um pouco mais de facilidade. Não havia visto nenhuma outra saída para a superfície, e o diretor e os ternos-pretos teriam que aguardar que saíssemos do elevador para que ele voltasse lá para baixo. Mas e se houvesse uma maneira de nós o prendermos ali...
Ouvi as engrenagens lutarem enquanto o elevador reduzia a velocidade, todo o mecanismo vibrando em protesto. Então uma sala começou a entrar no nosso campo de visão, conforme nos nivelávamos a ela. Havia um terno-preto sentado em uma cadeira, de costas para nós, evidentemente sem ter prestado atenção aos últimos acontecimentos lá embaixo. Simon e eu abrimos os portões antes que ele pudesse se virar, apressando-nos em sua direção como um par de rolos compressores.
— Esta sirene está me deixando... — foi tudo o que o ouvimos dizer, antes que Simon batesse a cabeça do guarda na escrivaninha atrás da qual se sentava. Empurrei o terno-preto inconsciente para o chão, depois o arrastei ao elevador.
— Ajudem-me com isto — disse Simon, arrastando a mesa de metal. Zê e eu agarramos a outra extremidade e empurramos a escrivaninha para o elevador, deixando-a metade dentro, metade fora dele. Com um pouco de sorte, quando o elevador descesse, não iria muito longe.
Só quando a mesa ficou bem presa é que conseguimos relaxar um pouco para examinar aquela nova sala. Tal como os aposentos do diretor, ela estava repleta de monitores, fileiras e fileiras deles cobrindo toda a parede. Abaixo, encontrava-se um quadro de equipamentos eletrônicos com vários controles e botões. Ao ver algumas palavras escritas no metal — RESPOSTA ARMADA e LIBERAÇÃO DAS CELAS —, senti o coração acelerar.
— Sabem que lugar é este, não sabem? — perguntei baixinho, sentindo o peito pulsar ainda mais forte.
— Que lugar é este? — perguntou Zê, relanceando o olhar para o terno-preto imóvel atrás de nós.
— É uma sala de controle — respondi. — E nós, meus amigos, fi-nalmente estamos no controle.
CENTRO DE CONTROLE
A primeira coisa que fiz foi tirar a planta do bolso e estendê-la no chão para checar onde estávamos. A sala de controle ficava isolada acima do fosso do elevador, conectada, por uma pequena passagem, ao corpo principal da prisão. Olhei ao redor, observando uma porta enorme incrustada em uma das paredes, com pelo menos sete ou oito fechaduras elétricas prendendo-a à rocha. Se conseguíssemos passar por ali e chegar ao final do corredor, estaríamos de novo no corpo principal da prisão.
De volta às celas, pensei, soltando um risinho sem humor. De volta ao ponto de partida. Maravilha.
A única outra porta que havia na sala era marcada com um raio, e, pela planta, eu podia ver que era apenas uma caixa de distribuição gigantesca para o suprimento de eletricidade da prisão.
— Cara, é incrível! — Simon inclinara-se sobre o painel de controle abaixo dos monitores e agora examinava os vários controles e botões. Estendeu a mão de tamanho normal e empurrou um grande interruptor vermelho. De início, achei que havia ficado surdo, e esfreguei um dos dedos no ouvido, fazendo pressão. Depois percebi que ele tinha desligado a sirene.
— Até que enfim — disse Zê, a voz saindo mais alta do que o necessário. Ele uniu as mãos em um gesto de oração. — Obrigado, Senhor. Voltei a escutar.
— Este computador nos dá poder sobre qualquer coisa — constatou Simon, as palavras saindo atrás de um sorriso que se estendia de orelha a orelha. — Agora somos donos absolutos deste lugar.
O som de metal sendo triturado fez com que nos sobressaltássemos. Viramos para observar o elevador, que começava a descer. A mesa tremeu, mas se manteve firme, e, quando o teto da cabine do elevador atingiu o nível do chão, ela parou, as engrenagens guinchando enquanto o forçavam para baixo.
— Acham mesmo que isso vai dar certo? — perguntei, observando a mesa começar a ceder, o peso do elevador curvando o aço maciço como se fosse borracha.
— Quer realmente que a gente responda? — perguntou Zê. Uma fenda se formou no centro da mesa, onde o teto do elevador encontrava o chão da sala de controle, lentamente se alastrando pela superfície com um guincho tão agudo que teria estilhaçado um vidro. — Alguém tem outra ideia brilhante?
— Temos que correr, voltar à parte principal da prisão — sugeriu Simon. — Se liberarmos todas as celas, os ternos-pretos terão mais trabalho do que podem enfrentar.
Fazia sentido. Mas, se fugíssemos para a prisão agora, deixando o caminho livre atrás de nós, o diretor não teria dificuldade em nos cercar. Algumas centenas de prisioneiros em fúria não seriam suficientes quando enfrentassem guardas com armas e cães mutantes. Não; tínhamos que deter o elevador. Olhei para a porta com o raio e a abri. Dentro dela, estendendo-se do teto ao chão, havia dezenas de cabos, cada um tão grosso quanto meus novos braços.
— Não há saída por aí, Alex — falou Zê.
— Espere um minuto — respondi, estudando as letras escritas em cada cabo. O som de metal guinchando ficava cada vez mais alto; agora, a qualquer segundo, a escrivaninha se partiria ao meio. — Vocês tem alguma noção de eletricidade?
Simon e Zê postaram-se atrás dos meus ombros em segundos, mas ambos sacudiam a cabeça em negativa. Zê levantou uma das mãos e a balançou da esquerda para a direita, percorrendo todos os cabos.
— Fizemos algo desse tipo lá na escola — ele respondeu, mordendo os lábios. — Um deles provavelmente alimenta o elevador. Se conseguíssemos encontrar o cabo certo...
— Não brinca, Sherlock! — exclamei, com um pouco mais de sarcasmo do que pretendia. — E, por acaso, tem alguma ideia de qual possa ser o certo?
A única resposta que recebi foi o ruído da mesa quando enfim cedeu. O guincho estridente transformou-se no barulho do elevador em descida. A subida, que parecera demorar uma eternidade, provavelmente durara vinte segundos no máximo, o que nos dava menos de um minuto antes de aquele lugar ser tomado por um enxame de ternos-pretos.
— Este aqui — disse Zê, apontando para um cabo marcado com EV132.2. Olhei para ele, depois para o cabo, em seguida para ele de novo.
— Sério? E como sabe?
— Bem, está escrito “EV” nele — replicou Zê, igualando-se a mim no tom sarcástico. — Não acha que tem algo a ver com “Ele-Vador”?
Um solavanco soando a distância evidenciou que o objeto de nossa discussão havia atingido seu destino. Podia quase vê-los entrando no elevador, reunindo os cães antes de se ajuntarem na maior quantidade possível dentro dele. Não importava mais se Zê estava certo ou não; tínhamos que fazer alguma coisa. Respirando fundo, estendi as mãos e agarrei o cabo de plástico preto. Tanto Zê quanto Simon recuaram um passo, e, embora estivessem atrás de mim, eu sabia que sacudiam de novo a cabeça em negativa.
— Alex, essa não é nem de longe a melhor ideia que você já teve — avisou Simon. — Isso deve carregar milhares de volts.
— Não são os volts que matam — retrucou Zê. — São os amperes. Mas Simon está certo. O que pensa que está fazendo?
Eu os ignorei, puxando o fio com toda a força que tinha. Ele estava conectado com firmeza, mas eu tinha a força do demônio dentro de mim, e nenhum cabo resistiria muito tempo em minhas mãos. Fora de nosso campo de visão, atrás das paredes, algo começou a se soltar, centelhas voando do alto da porta. Elas queimaram minha pele, mas não larguei o fio. O elevador já subia, e não era preciso um diploma de engenharia para adivinhar, pelo rangido da engrenagem, que estava sobrecarregado de pessoas.
— Aí vêm eles — avisou Simon. — Esqueça, Alex, deixe pra lá.
No entanto, continuei puxando, mesmo quando senti a vibração de uma corrente elétrica descendo pelos braços; mesmo quando o chuvisco das centelhas se tornou um festival de fogos de artifício. Puxei até o cabo se soltar, deslizar da parede e despencar sem vida em minhas mãos, como uma cobra. Pude ver os fios de cobre sob o invólucro de plástico, as chispas cuspindo em mim.
Nada aconteceu. O elevador continuava a subir.
— Vamos! — gritou Simon. — Largue essa coisa, e vamos dar o fora daqui.
Largar... Puxei com violência o cabo mais afastado da parede, ignorando a vibração elétrica que desceu por meus braços, fazendo o corpo todo querer se encolher. Ele não alcançava uma grande distância, mas não importava. O elevador estava próximo o suficiente. Arremessei o cabo na direção dele, lançando-me para trás ao mesmo tempo. Ele prescreveu uma linha sinuosa e, quando o cobre fez contato com um dos portões do elevador, explodiu.
A sala foi mergulhada em escuridão e silêncio, tão profundos que pensei ter sido eletrocutado. Mas em seguida vi a centelha emanando do fosso do elevador e ouvi os gritos de agonia abaixo de nós, provenientes de ternos-pretos na cabine. Senti o odor forte e acre da fumaça e, além deste, outro cheiro que me deu vontade de vomitar de novo.
— Boa, Alex — disse-me Zê, e não tive certeza se falava a sério ou não. — Agora o que faremos...
Houve um estrondo sob nossos pés, o zumbido inconfundível de engrenagens tentando entrar em funcionamento. As luzes do teto piscaram uma, duas vezes, depois tremeram como a chama de uma vela, uma luz pálida voltando a iluminar a sala. Pouco a pouco, um por um, os monitores da parede retornaram à vida, e mesmo nas telas minúsculas eu podia ver o pânico irromper atrás das grades das celas no corpo principal da prisão.
— O gerador de emergência — disse Zê. — Só pode ser.
— Não importa — respondeu Simon, andando até o fosso do elevador, cauteloso em não tocar qualquer metal exposto no caso de ainda haver corrente passando por ele. — Eles não vão a lugar nenhum, Alex. Acho que você os fritou.
Meu estômago revirou de novo quando vi Simon juntar uma bola de cuspe e arremessá-la no fosso. A descarga elétrica devia ter causado queimaduras feias nos ternos-pretos que estavam dentro do elevador, mas não os tinha matado, tinha? E importava se tivesse?
Algo negro e denso envolveu meus pensamentos, um capuz que obstruía minha visão. Tombei para trás, encostando-me na parede e sentindo o néctar fluir nas veias, tentando me atrair para a escuridão. Soltei um grito, chocado em ouvir o uivo profundo que saiu dos meus lábios. Era a mesma sensação de quando matara Ozzie: tirar vidas me transformando em um monstro. Justamente o que o néctar queria, o que ele precisava. Porque a única maneira de conseguir me controlar era se eu fosse um deles, um predador.
Dei um soco na cabeça, dissipando a névoa dentro dela. Quando tornei a abrir os olhos, Simon estava na minha frente.
— Lute contra ele — disse-me baixinho. — Respire fundo algumas vezes e pense em algo bom. Como sair daqui. O néctar não tem poder sobre você se não permitir.
Segui o conselho dele, sonhando com o mundo lá fora, com aquela chuva que caía agora. Imaginei-a sobre a pele, escorrendo pelo rosto e saciando minha sede. Pouco a pouco, a neblina impenetrável desapareceu de minha mente, deixando-me só com a fantasia. Abri a boca, deixando o ar inundar meus pulmões, depois me afastei da parede.
— Obrigado — falei. Simon deu um tapinha amigável no meu ombro.
— Não precisa agradecer; já passei por isso. E vai piorar, antes que você melhore.
Uma mistura de sons desagradáveis subia do fosso do elevador, quase mascarando a sinfonia de gemidos lá embaixo, e, mais para fugir do ruído do que por qualquer outra coisa, fui até o painel de controle.
— Isso vai detê-los lá durante algum tempo — disse, examinando a série de equipamentos eletrônicos à frente. — Mas não por muito tempo. Quando descobrirem o que fizemos, vão ficar furiosos. Temos que dar o fora daqui agora, antes que encontrem um modo de escalar o fosso do elevador.
— Certo — concordou Simon. Ele havia se dirigido à imensa porta que conduzia ao corpo principal da prisão e examinava as trancas. — Vamos começar pelo princípio... descobrir como abrir esta porta.
Uma avaliação rápida dos controles revelou dois botões, onde estava escrito câmara de ar. Ambos podiam ser ajustados para 0 ou 1, e os dois apontavam para 0 naquele momento. Agarrei um deles e o girei, e de algum lugar próximo ouvi a explosão solitária e longa de uma sirene. O chão vibrou, como se em algum lugar uma imensa porta se abrisse, mas a que havia na sala onde estávamos continuava hermeticamente fechada. Tentei o outro botão, mas ele não girava.
— Vejam — chamou Zê, apontando para uma tela na parede. Acompanhamos seu dedo e vimos que a porta da abóbada da prisão estava aberta. Um terno-preto encaminhava-se para lá, a expressão confusa visível até mesmo pelo minúsculo monitor. — Câmara de ar — continuou Zê. — Deve ser como num submarino: duas portas que não abrem ao mesmo tempo.
— O quê? — resmungou Simon.
— Por questões de segurança — acrescentou Zê. — Se a porta externa e interna abrirem ao mesmo tempo, os prisioneiros podem atravessá-las. Se abrirem uma de cada vez, qualquer um que atravesse a porta externa vai ficar preso no meio antes que a interna se abra. Feche esta.
Zê se aproximou de mim e girou o primeiro botão de volta ao 0. Houve outra explosão de sirene, e vimos na tela quando a porta se fechou. O terno-preto se encaminhou para ela, e nós três caímos na risada quando ele coçou a cabeça, claramente perplexo.
Quando ouvimos as trancas se fechando na porta externa, Zê gi- rou o outro botão para a posição 1. O som de grades de metal se movendo tomou a sala, e a porta que dava para onde estávamos se abriu suavemente.
— Você é um gênio! — exclamou Simon, agarrando a cabeça de Zê e dando-lhe um beijo estalado na testa.
Andamos até a porta aberta e vimos um túnel largo e curto à frente. Montada no teto, e felizmente voltada para o lado oposto ao que estávamos, encontrava-se uma metralhadora. No fim do túnel ficava a porta da abóbada, uma névoa de pó ondulando diante dela agora que havia se fechado.
— Bem, então é só abrir a grandona aí da frente, e estamos livres? — perguntou Simon.
A ficha caiu para os três ao mesmo tempo, mas foi Zê quem expressou o pensamento coletivo em voz alta:
— Não podemos abrir daqui a porta principal — falou, apontando o túnel com a cabeça. — Ela só pode ser aberta do painel de controle, certo?
— Certo — Simon e eu respondemos ao mesmo tempo.
— Então... — começou Zê, deixando a declaração inacabada. Não havia necessidade de prosseguir.
Um de nós teria que ficar para trás.
PEDRA,PAPEL E TESOURA
— Deve haver um modo de bloqueá-la, de enganar o sistema. Talvez de calçá-la para mantê-la aberta, qualquer coisa assim!
Simon falava enquanto andava para a frente e para trás, esfregando a cabeça com tanta força que achei que o cabelo dele fosse cair. A porta interna ainda estava aberta, a saída para o corpo principal da prisão tão próxima e, no entanto, tão distante.
— Bloqueá-la não vai funcionar — explicou Zê, os olhos fixos no painel de controle. — Se o computador identificar que uma porta ainda está aberta, a outra permanecerá fechada. Faz sentido, sem dúvida.
— Não me importa se faz ou não sentido — berrou Simon, girando nos calcanhares e atravessando a sala na velocidade de uma flecha. Levantou a mão e, por um momento, achei que fosse desferir um soco em Zê, mas então ele a baixou contra a série de equipamentos eletrônicos, forte o bastante para deixar uma marca no painel.
— Não adianta nada agir assim — cortou Zê, encarando com firmeza o garoto maior. — Temos que usar a cabeça, não os punhos.
As palavras seguintes que jorraram da boca de ambos foram uma série de palavrões que ecoaram pelas paredes rochosas como o som de pipocas estourando no micro-ondas. Enfiei-me no meio deles, e foi necessária mais força do que pensava para separá-los.
— Zê tem razão, Simon — falei. — Não adianta nada ficarmos aqui esperando até que os ternos-pretos cheguem e nos matem. Ou que aguardem nós mesmos nos matarmos. Um de nós vai ter que ficar e operar o painel de controle, enquanto os outros dois procuram uma saída na parte principal da prisão.
Não acrescentei o óbvio: quem quer que ficasse para trás, não seria nada além de uma mancha na sola da bota de um terno-preto.
— Bem, eu não farei isso — avisou Simon, erguendo as mãos e recuando em direção à porta. O medo era quase palpável em sua voz, o som de terror emitido por um animal capturado. — Passei por muita coisa para morrer aqui. Podemos fugir deste lugar, sei que podemos. Estamos tão perto. Eu... tenho que conseguir.
— Vamos tirar no palitinho — sugeri no tom de voz mais firme que pude, certificando-me de não desgrudar os olhos dos de Simon. Eu era maior que ele agora, mas Simon havia enfrentado mais batalhas, e eu sabia que ele era superior a mim. — Isso, vamos tirar no palitinho. Vai ser uma solução justa.
Zê fez menção de falar, mas o tom manso foi abafado pelos berros de Simon:
— Já disse: não vou fazer isso!
— Pedra, papel e tesoura — falei, ignorando Zê quando tentou abrir a boca de novo. — Já funcionou antes, quando servi de isca para os ratos. Lembra? Naquela ocasião, você ficou satisfeito em decidirmos assim.
— Mas foi diferente — ele respondeu, apontando para mim com seu indicador superinchado. — Qualquer um que tentasse aquilo teria uma chance. Isso aqui, ao contrário, é morte certa.
— Gente... — advertiu Zê, mas não o deixei terminar.
— Vai ser pedra, papel e tesoura, Simon — disse eu, ainda sem romper o contato visual com ele. — Se não jogar, perde automaticamente.
— Gente... — repetiu Zê, dessa vez com mais urgência.
— Ótimo — interrompeu Simon. Ele me encarou durante mais alguns segundos, depois cerrou os punhos, preparando-se. — Você e eu. Quem ganhar joga com Zê. No três. Um, dois, três.
Eu formei a tesoura, mas a minha visão da mão de Simon foi bloqueada por Zê.
— Gente — ele sussurrou, colocando sua mão sobre meus dedos e empurrando-os para baixo. — Eu vou cuidar disso.
— Mas... — comecei a protestar. Dessa vez foi Zê quem me cortou.
— Algum de vocês sabe alguma coisa de eletrônica? — ele perguntou. — Não. Sabem como desviar um circuito? Não. Há algum modo, distante que seja, de conseguirem enganar o sistema, abrindo as duas portas ao mesmo tempo? — Ele soltou um risinho fraco. — É mais fácil conseguir que o diretor venha até aqui e beije o meu traseiro.
— Mas...
— Mas nada, Alex. Você tem que confiar em mim. Posso cuidar disso. É a única maneira.
— Então ficaremos com você até que ache um jeito de enganar o sistema — falei, mas ele negou com a cabeça.
— Não sabemos quanto tempo teremos. Entrem na prisão e agitem os prisioneiros. Talvez, se causarmos distração suficiente por lá, não percebam que estamos procurando uma saída. Eu me junto a vocês assim que puder.
Olhei para Simon por sobre os ombros de Zê, ambos envergonhados demais para encarar um ao outro. Estivemos prestes a nos esmurrar para ver quem seria o primeiro a dar o fora dali, e Zê se oferecia como voluntário para ficar. E era o único que ainda conservava a aparência antiga, o único que não tinha passado por nenhum procedimento. O único que possuía o direito legítimo de voltar ao mundo real.
No entanto, seu argumento era inquestionável. Nem Simon nem eu tínhamos chances de desviar os circuitos para que as duas portas permanecessem abertas.
— Tudo bem — concordei por fim. — Mas você tem que agir rápido, certo? Há alguma coisa que a gente possa fazer para atrasá-los?
Os olhos de Zê percorreram o painel de controle e depois olharam para os monitores de TV.
— Não preciso deles — Zê falou. — E, se os ternos-pretos conseguirem chegar até aqui, é melhor que não vejam o que está acontecendo na prisão. Destruam os monitores. Isso pode ajudar.
Simon e eu fizemos o que ele havia pedido, arrancando as volu-mosas telas das presilhas de aço que as fixavam à parede e atirando-as no fosso do elevador. Houve alguns segundos de silêncio, até ouvirmos o estrondo dos monitores atingindo o fundo. Quando terminamos, Zê já havia tirado a placa do painel de controle e examinava os fios sob ela.
— Isso também é dispensável — falou, sinalizando com um gesto de cabeça o objeto de metal que havia descartado. Eu o peguei, lançando-o na escuridão. O elevador estava lá embaixo, muito longe de nós para ser visto, mas eu sabia que ele seria soterrado com o descarte do equipamento elétrico. Não que esse fato impedisse os ternos-pretos de encontrarem uma saída, mas deveria detê-los por um pouco mais de tempo.
— Espero que consiga pelo menos nos tirar daqui — resmungou Simon.
Zê assentiu com a cabeça, soltando um suspiro longo e entrecortado que fez meu coração se apertar.
— Encontrar uma saída para a superfície — sussurrou ele. — Vou tentar também descobrir como acionar os controles para o elevador principal. E estarei com vocês antes que percebam, podem acreditar.
— Sei que estará — repliquei, embora na verdade não acreditasse naquelas palavras. — Apresse-se, está bem?
Dei um passo à frente e passei os braços em torno dele, sentindo as costelas aparentes contra as minhas, ele muito pequeno agora para conseguir fechar os braços ao redor de minhas costas. Estava satisfeito por aparentemente não ser mais capaz de chorar, pois corria o risco de desmoronar se as lágrimas começassem a rolar agora. Depois de tudo por que tínhamos passado; depois de tudo o que eu havia perdido, o simples fato de pensar em não ver Zê de novo era pior que a própria morte.
— Chegamos aqui juntos e sairemos daqui juntos, eu prometo — falei com a voz trêmula. — Prometo, Zê, que não sairei daqui sem você.
— Se puder, saia, sim; quero que saia — replicou ele, as palavras interrompidas por outro suspiro. — Pode não haver outra chance.
Ele se voltou para o painel de controle e girou um botão. Senti, mais do que ouvi, o som de milhares de portas de celas se abrindo.
— Isso manterá os guardas de lá ocupados durante algum tempo — ele falou. — Agora, saiam daqui antes que eu mude de ideia.
— Obrigado, Zê — falou Simon, apressando-se em direção ao túnel. Lancei um olhar nervoso para a metralhadora sobre minha cabeça ao acompanhá-lo, e Zê gritou para mim:
— A resposta armada foi desativada. Esse negócio não deve nem sair mais do lugar.
Detive-me ao lado da porta principal da abóbada, olhando o caminho que havíamos percorrido. Queria gritar alguma coisa para Zê, mas a única coisa em que pensei foi “até breve”, porém não consegui dizê-lo. Mesmo que quisesse, duvido que pudesse ter obrigado as palavras a atravessar o bolo que havia dentro da minha garganta. Sentia-me como se tivesse deixado para trás um pedaço de mim.
Mas iria vê-lo de novo, disse a mim mesmo. Iria.
A porta interna começou a se fechar, e automaticamente passei a me mover na direção dela, a mão de Simon em meu braço sendo a única coisa a me impedir.
— Zê ficará bem — ele falou. — Aquele garoto é mais inteligente do que nós dois juntos. Ele vai encontrar uma saída.
De repente, Zê apareceu no canto da porta que se fechava, a mão magra acenando, e o rosto pálido fazendo o máximo para compor um sorriso. Parecia minúsculo, insubstancial, quase como se já estivesse morto. Um espectro de si mesmo. Imaginei os ternos-pretos se alvoroçando para pegá-lo, um enxame negro sufocando um inseto. Ele não duraria cinco segundos diante da fúria deles.
Desvencilhei-me de Simon e parti na direção dele, gritando seu nome. Mas a porta foi rápida demais, selando minha angústia atrás de um metro de metal maciço. Senti os ouvidos tampar com a mudança de pressão, o ar dentro do túnel de repente quente demais, como se estivéssemos dentro de um forno.
— Aqui vamos nós — Simon falou, e eu o segui, fazendo o possível para tirar Zê da cabeça. Coloquei a mão contra a porta externa da abóbada. Ouvi uma série de cliques; depois, com um ruído muito forte e um estremecimento de quebrar ossos, ela passou a se abrir. Não demorou para escutarmos os gritos dos prisioneiros ao escapar das celas. — Está pronto?
— Pronto como nunca! — respondi, cerrando os punhos e me preparando para correr.
A porta se abriu por completo, revelando o pátio do tamanho de um campo de futebol que constituía a base da parte principal da prisão. Havia prisioneiros reunidos ali e, ao verem que alguém sairia da porta aberta, agitaram-se, gritando e se acotovelando enquanto tentavam descobrir o que acontecia. Três ternos-pretos vigiavam a multidão, as armas engatilhadas, mas a atenção deles continuava fixa no grupo de prisioneiros.
— Lar, doce lar — falei, lançando um sorriso para Simon. — É bom estar de volta.
Então estreitamos os olhos, baixamos a cabeça e disparamos.
MOTIM
Não posso imaginar com que parecíamos ao irromper porta adentro, mas deve ter sido uma visão aterrorizante. Assim que nos viram, os detentos começaram a correr, partindo em todas as direções, enquanto se esforçavam para abrir caminho, um cardume separado pela perseguição de tubarões.
O pânico proporcionou a distração de que precisávamos. Um dos ternos-pretos disparou para o ar, a fim de tentar controlar os presos, e os outros dois berravam ordens para os garotos que fugiam. Jamais tinham previsto nosso ataque.
— Voltem para o círculo, idiotas — berrou um dos guardas, apontando o cano da arma para o enorme círculo amarelo pintado no chão do pátio. — Ou, da próxima vez...
Foi até onde ele conseguiu chegar. Vi Simon se lançar contra ele, fazendo-o voar. O guarda atingiu o chão desajeitadamente, a arma disparando contra a multidão. Outro dos ternos-pretos apontou a arma para Simon, mas eu estava sobre ele antes que conseguisse puxar o gatilho. Agarrei o cano da arma com uma das mãos, direcionando o outro punho às costelas dele.
O golpe foi violento, mas ele não pareceu senti-lo. Revidou como uma víbora, a testa se chocando contra meu nariz e fazendo com que o mundo todo explodisse em luz branca. Cambaleei, tentando desesperadamente segurar a espingarda enquanto ele a mirava em minha cabeça. Mais por sorte que por habilidade, mantive o cano na vertical, mesmo quando ele disparou a arma e o aço frio se tornou quente e avermelhado.
Limpei as lágrimas, ignorando a dor no nariz e me lançando contra o terno-preto. Dessa vez, mirei um ponto mais alto, golpeando-o no pescoço. Pude ver a confusão em seu rosto ao ser atacado por um dos irmãos guardas.
— Você não precisa lutar — tentei dizer, mas a adrenalina embaralhou minhas palavras. Não acho que ele as teria registrado de verdade, ainda que tivessem sido faladas. O néctar estava dentro dele, transformando seu rosto em uma máscara retorcida de raiva e fazendo os olhos parecer fogo frio. Era ele ou eu.
Um de meus socos o atingiu na orelha, e o guarda cambaleou para trás, deixando a arma cair. Não me detive, os golpes como perfuratrizes. Outro tiro cortou o ar, e baixei a cabeça instintivamente, colocando toda a força em meu ataque brutal. O terno-preto tropeçou nos próprios pés, tombando no chão de pedra.
Estava prestes a acabar com ele, quando vi outros guardas cercar o pátio. Havia seis deles, vindos das salas de escavação, todos armados. Outros quatro desciam os degraus dos níveis superiores. Vários dispararam ao mesmo tempo, sem aparentemente se importar de haver outros ternos-pretos pelo caminho. Ainda estavam longe demais para que os tiros fossem mortais, mas a situação não ficaria assim por muito tempo.
Desferi um chute forte no terno-preto, depois chutei sua arma para longe. Simon havia derrotado um dos outros e lutava contra o terceiro, o braço de tamanho normal dando certa vantagem ao oponente. Íamos ser derrotados e reduzidos a pedaços pelos guardas, a menos que eu pensasse em alguma coisa, e bem depressa.
Olhei para os prisioneiros ao redor, amontoados em pequenos grupos na extremidade do pátio, pressionados de modo compacto nas escadas e nos patamares dos primeiros níveis — próximos o bastante para obter uma visão frontal da ação, mas com espaço suficiente para correr se precisassem fazê-lo. Examinei os rostos sujos e os olhos vermelhos, até que encontrei o que procurava: bandanas pretas pintadas com cruéis crânios brancos.
Os Caveiras, a pior gangue de Furnace — garotos que haviam transformado minha vida em um pesadelo quando estava ali na prisão. E, agora, a única coisa que existia entre mim e um monte de chumbo.
Recuei, correndo para o lado do pátio onde eles estavam. Kevin e Gary tinham partido, por isso não sabia quem os liderava agora, mas localizei um garoto alto e magro, com uma cicatriz que ia da testa ao queixo e que reconheci como um dos discípulos de Kevin na minha época ali. Dirigi as palavras a ele.
— Querem dar o fora daqui? — perguntei, minha voz reverberando pelo pátio amplo. Mais duas rajadas de tiros pontuaram o final de minha pergunta, os ternos-pretos quase nos alcançando. Os Caveiras recuaram, os olhos fixos em mim em uma mescla de medo, desafio e confusão. Para eles, eu era um autêntico guarda, o que significava que não poderiam confiar em uma palavra do que eu dissesse.
Outra rajada irrompeu atrás de mim, fazendo-me saltar. Virei-me e notei Simon em meio à multidão, os prisioneiros gritando de medo e lhe abrindo caminho. Os ternos-pretos estavam em seu encalço, atirando com selvageria. Detiveram-se no meio do pátio, reunindo-se num círculo em torno dos companheiros caídos, sem jamais baixar as armas.
— Entreguem-no! — berrou um deles, olhando para os Caveiras, com certeza se referindo a mim. — Não precisam ser feridos por causa disso. Não vale a pena morrer por ele.
— Nem por aquele ali — falou outro dos guardas, apontando a arma para Simon, agora agachado à porta de uma das celas. Vi sangue escorrendo do seu nariz; ele devia estar muito ferido. — Qualquer prisioneiro que nos ajude a pegar esses dois ganhará ração extra durante toda a semana.
Um murmúrio percorreu a multidão diante do pensamento de rações extras, e vi que os prisioneiros se aproximavam. Se acreditassem que poderiam obter algum ganho com aquilo, ficariam contra nós em segundos. E uma prisão repleta de garotos furiosos iria me despedaçar muito mais rápido do que alguns ternos-pretos. Eu precisava lhes oferecer algo. Dei um passo à frente, gritando para a multidão que nos assistia de todos os ângulos:
— Posso tirá-los daqui! — A voz ricocheteou na rocha com uma força que me surpreendeu. — Posso tirar todos vocês daqui. O diretor está preso lá embaixo; não haverá reforços, nem cães. Qualquer um que queira escapar, é melhor começar a lutar agora.
Dessa vez, o burburinho de exclamações chocadas que encheu o ambiente foi mais alto, como ondas se quebrando num recife.
— Está falando sério? — perguntou um dos Caveiras atrás de mim. — Pode mesmo nos tirar daqui?
Não tinha certeza, mas o que mais poderia responder?
— Posso tirá-los daqui — repeti. — Todos vocês. Mas só se eu sobreviver.
— É melhor que nos escutem — gritou um dos ternos-pretos, disparando a arma para o ar. — E escutem com bastante atenção. Qualquer um que pense em ficar do lado desse traidor vai morrer, aqui e agora. Ataquem esses traidores e nos entreguem os dois, antes que seja tarde demais.
Mas já era tarde demais. Pude sentir a tensão crescente na prisão, como uma panela de pressão prestes a explodir, como a eletricidade no ar que antecede uma tempestade. Pela primeira vez desde que foram trancafiados ali, os prisioneiros percebiam medo e insegurança nos guardas. Sabiam que a maré havia mudado: não havia sirene, nem cães, nem reforços, e, sobretudo, não havia a presença do diretor. A prisão era deles.
Naquele momento, todos os anos de crueldade e brutalidade que fervilhavam em latência no sangue dos prisioneiros começaram a eclodir. Todas as mentes eram uma só, milhares de prisioneiros agora se tornando uma máquina com um único propósito letal. Um arrepio motivado por esse poder bruto, irreversível, os percorreu como o efeito de uma droga, gerando um grito de batalha atrás de mim. Um dos Caveiras bradava com toda a força, e o grito se alastrou como fogo quando os demais aceitaram a convocação, tornando-se um hino de desafio que poderia ter feito a prisão tremer até as fundações.
Vi o semblante austero dos ternos-pretos se desmanchar, cada traço do usual sorriso presunçoso desaparecer, à medida que o ar adquiria vida com o verdadeiro hino de Furnace. Parte de mim queria lhes estender a mão, tentar fazê-los recordar de que um dia haviam sido garotos como nós. Não era justo que tivessem sido transformados antes deste momento, que nunca mais pudessem compartilhar da liberdade que sabíamos ser nossa.
No entanto, mesmo que tivesse conseguido me sobrepor ao lamento mortal que abalava o pátio, não teria adiantado. Naquele momento, os guardas desejavam os piores castigos para os prisioneiros a meu redor. Tentar deter o que veio em seguida teria sido como tentar deter uma onda no mar.
Não sei quem foi o primeiro a se mover, mas de repente a prisão adquiriu vida, um movimento tão intenso de pessoas, todas ao mesmo tempo, que me deixou zonzo. Os ternos-pretos dispararam contra a multidão, mas não tiveram chance, engolidos de todas as direções por uma horda fervilhante de prisioneiros. O movimento de braços e pernas era como o de pistões, e, embora a maioria daqueles membros fossem magros e sem carne, não havia uma criatura viva que pudesse enfrentar aquela fúria coletiva.
Observei enquanto pude, até que não restasse nada dos guardas, exceto ternos úmidos, vazios. Então me afastei, esperando que a violência terminasse.
Só que ela não terminou. Algo tinha sido aprisionado dentro daqueles garotos, e, agora que ganhara liberdade, não havia mais como detê-los. Quando terminaram com os guardas, dispararam para as celas, os gritos altos o bastante para estourar meus tímpanos ao arrancarem privadas das paredes e destruírem os beliches. Se eu não soubesse, poderia ter afirmado que tinham o néctar nas veias, a violência certamente selvagem demais para ser humana. Então constatei que não devia haver nada mais selvagem que a ira humana.
— Foi mais fácil do que pensava — falou uma voz a meu lado, pouco audível acima do ruído. Virei-me e avistei Simon, ainda enxugando o rosto e tremendo, apesar do calor.
— Você está bem? — perguntei, observando seu nariz quebrado. Ele fez que sim com a cabeça, um sorriso se abrindo na máscara vermelha do rosto.
— Sim, não foi nada de mais. — Ambos saltamos para trás quando uma privada voou de um dos andares superiores, arrancando um pedaço do chão rochoso do pátio ao se espatifar lá embaixo. Seguiram-se aplausos dos que assistiam à cena, o que por sua vez provocou uma chuva de outros objetos. — E agora?
Não tive tempo de responder, antes de ouvir um grito do outro lado do pátio.
— E quanto a eles?
Essas palavras foram absorvidas por inúmeras outras vozes, e, antes que me desse conta, aquela onda de prisioneiros marchava em minha direção. Senti o sangue congelar, tentando recuar diante da multidão que se aproximava. Mas não havia para onde ir.
— Como sabemos que não está com eles? — alguém perguntou, a aglomeração de garotos diante de mim tão compacta e a expressão de raiva tão similar que não conseguia distinguir um do outro. O grupo maciço de gente avançava, pressionando-me. Deveria ter previsto aquilo. Não importava que fosse eu a ter acendido o estopim; não importava que lhes tivesse prometido a liberdade. Eu não era um deles, e isso só significava uma coisa.
— Ele está vestindo um terno — comentou alguém.
— Acabem com ele! — gritou um dos Cinquenta e Nove, gangue arquirrival dos Caveiras. — Acabem com os dois!
Venceram o caminho até mim como uma manada, e fechei os olhos, sentindo o corpo de Simon contra o meu. Então, depois de tudo por que havíamos passado, terminaríamos assim. Pelo menos seria rápido. Ninguém, não importa quanto néctar houvesse dentro dele, poderia resistir a um acesso maciço de fúria como aquele.
Um tiro foi disparado, e, instantaneamente, a tempestade de gritos se transformou em burburinho. Abri os olhos e vi um Caveira entre mim e a multidão, a arma fumegante apontando para um ponto distante no teto. Era aquele que antes eu identificara como o líder.
— Este sujeito aqui pode ser nosso bilhete de saída — ele falou, a voz lenta e arrastada, mas que também carregava uma autoridade fria. O olhar dos prisioneiros foi dele para nós, os pés sapateando na rocha, como touros prontos para atacar. — Sei que todos aqui estão com sede de sangue, mas ninguém vai colocar um dedo nele antes que nos mostre o caminho para sairmos daqui. Entenderam?
Cem ou mais cabeças concordaram com relutância, como uma brisa percorrendo o gramado. O Caveira manteve os olhos fixos neles durante mais um momento e, depois, virou-se para encarar Simon e a mim.
— Parece que consegui adiar temporariamente a execução de vocês — anunciou, balançando a espingarda para cima e para baixo na palma da mão. — Mas só vai durar se o que você disse for verdade.
Eu sabia muito bem a pergunta que viria pela frente, e sabia melhor ainda que não tinha resposta alguma. Não por enquanto.
— Como faremos para arrebentar os portões? — perguntou o garoto. — Como sairemos de Furnace?
PLANOS DE BATALHA
Nós nos sentamos diante de uma mesa na sala do cocho, cada centímetro quadrado de espaço ao redor preenchido com prisioneiros. Os Caveiras ocupavam os bancos próximos de mim e Simon, e o garoto com a cicatriz — o nome dele era Bodie — apoiava o cano da espingarda nas pernas enquanto digeria o que havíamos acabado de lhe contar.
— Está me dizendo que os ternos-pretos são... nós? — perguntou ele depois de algum tempo.
Fiz que sim com a cabeça, imaginando se teria de explicar a história toda pela terceira vez. Já tinha lhes contado tudo a respeito dos procedimentos do diretor, tudo sobre o néctar e os planos de Furnace para nos transformar em monstros, em ternos-pretos. Bem, quase tudo. Não havia mencionado a parte sobre o diretor estar vivo há quase um século, sobre as experiências durante a Segunda Guerra Mundial. Imaginei que ninguém acreditaria se não visse as evidências com os próprios olhos prateados.
— Todos eles — respondi. — Inclusive Simon e eu.
— É, eu conheço você — falou um dos Caveiras. — Você dividia o beliche com Donovan. Não foi você que tentou fugir pelo rio? Achávamos que estivesse morto.
Apontei para mim mesmo para provar que ele estava errado.
— Isso foi o que o diretor lhes contou. Ele não queria que ninguém mais tentasse fugir. Bem, conseguimos, pelo menos a maioria. Mas só fomos até a solitária. Aquele rio não levou a lugar nenhum, e sim direto para os braços dos Ofegantes. Já devem ter adivinhado o que aconteceu depois.
— É, tentaram transformar você em um deles — falou uma voz no fundo da sala. — Mas não conseguiram.
— Tudo porque você lembrou o próprio nome? — acrescentou Bodie, a voz carregada de descrença.
— Por acaso não viram as evidências? Já não viram a vigília sangrenta, os Ofegantes? E quanto às criaturas que trazem com eles, são nós mesmos, a meio caminho do final do procedimento. É isso que o néctar faz com a gente.
— Imaginei que fizessem algo assim mesmo — disse outro Caveira. — Lembram do que aconteceu com Kevin?
Bodie torceu o lábio, depois fez que sim com a cabeça. Todos se lembravam do que havia acontecido com Kevin, abatido na cela por uma besta trazida lá de baixo, o cão feroz que um dia fora Monty.
— Não temos muito tempo — disse Simon. — Não podemos ficar aqui e conversar o dia todo. A menos que tomemos alguma providência, o diretor logo vai encontrar um jeito de subir.
Pensei em Zê, ainda preso dentro da sala de controle. Torci para que estivesse perto de conseguir um modo de enganar o sistema, e também para que os ternos-pretos ainda estivessem presos no fosso lá embaixo. A primeira coisa que Bodie fez depois que a multidão se acalmou foi colocar dois dos garotos de vigia ao lado da porta da abóbada — que havia se fechado depois de entrarmos no corpo principal da prisão — e mais dois ao lado do elevador, para evitar qualquer tipo de surpresa que viesse da superfície. Não que realmente esperássemos algo dali.
— Tem certeza de que não mandarão a polícia? — perguntou Bodie. — A SWAT, talvez o exército? Quero dizer, é um negócio bem importante, esse de assumirmos o comando da prisão. Vai sair no noticiário da TV e tudo o mais.
— Não virá ninguém — falei. — O diretor não se atreveria a deixar ninguém mais descer aqui; não correria o risco de alguém descobrir sobre as experiências, sobre o que têm feito com a gente. Não, ele está embriagado com seus planos doentios. Aposto com você como o mundo não tem nenhum conhecimento do que acontece aqui.
— O mundo vai descobrir assim que sairmos daqui — respondeu Bodie, provocando aplausos frenéticos do restante dos garotos na sala. — E não vai nem saber de onde veio a bomba que o atingiu.
— No entanto, isso não significa que estejamos em segurança — prossegui. Vinha tentando não pensar no telefone, nas palavras de Furnace. Mas tinham ficado registradas na memória.
Estou indo aí para pegar vocês.
— Na minha opinião — comentou Simon —, Furnace vai enviar reforços de fora.
— Mais ternos-pretos — acrescentou Bodie. — Faz sentido.
— Mas a única maneira de entrarem é usando o elevador — acrescentei, uma centelha de esperança se acendendo na cabeça com brilho suficiente para me fazer compará-la a uma fenda aberta no teto. Lembrei-me da planta e a tirei do bolso, abrindo-a sobre a mesa. Os garotos das gangues se inclinaram para observar melhor, alguns assobiando só de ver o tamanho da prisão em linhas brancas diante deles. Passei um dedo pela longa extensão do fosso do elevador principal, a única conexão com o mundo exterior.
— Bem, se Furnace quiser entrar, primeiro vai ter que pegar o elevador — falou Bodie. — E, se já estivermos lá quando ele chegar ao destino, terá uma bela surpresa quando as portas se abrirem.
— É verdade — disse Simon, concordando com Bodie. — Sabem se a cabine está em cima ou embaixo?
— Nunca sabemos — respondeu um dos Cinquenta e Nove. Eu o reconheci do ginásio onde quase tinha virado pasta cremosa de tanto apanhar. Aquilo parecia ter ocorrido décadas atrás. — Às vezes sobe, às vezes fica embaixo. A única maneira de ter certeza é abrindo-o.
— Mas aquelas portas são de aço reforçado — acrescentou Bodie. — Ninguém jamais conseguiu arrebentá-las.
— Isso porque ninguém teve tempo suficiente antes — repliquei com um sorriso. — Se olhassem muito para elas, os ternos-pretos os jogariam na solitária. Mas agora não há mais ninguém que nos impeça.
Levantei-me, sendo imitado pelos Caveiras, cujos punhos e armas se ergueram também. Subi as mãos em um gesto de rendição, suspirando frustrado.
— Posso parecer um deles — falei, tentando manter contato visual com os demais na sala. — Mas não sou. Meu nome é Alex Sawyer, e sou um prisioneiro como vocês. E, se querem que eu encontre uma saída daqui, é melhor tirarem essas armas da minha cara!
Meu tom de voz calmo tornou-se um grito ao proferir as seis últimas palavras, a raiva crescendo dentro de mim. Parti para o ataque, agarrando o cano da espingarda de Bodie e enviando-a para o chão, num voo em espiral.
— Calma, chefe — ele contemporizou, fazendo os demais recuar. — Entendi o que você disse. É um de nós. Fim da história.
Com um leve empurrão, afastei-me dele e voltei ao pátio. Antes, Furnace já parecia o inferno, mas agora se tornara mesmo o inferno. Alguns dos prisioneiros haviam rasgado os lençóis das camas, fazendo com eles uma enorme pilha no chão que, de algum modo, fora acesa. Aquilo dera vida às paredes, a rocha avermelhada refletindo a luz tremulante e criando a ilusão de que estávamos todos de pé dentro de uma pira. Embora a maior parte da fumaça se desviasse para cima, unindo forças com as sombras dos níveis mais elevados, os filetes negros se contorciam pelo lugar, tornando o calor opressivo ainda mais insuportável.
— Será um golpe de sorte se todos terminarmos queimados por aqui — Simon tossiu, puxando o macacão esfarrapado para cobrir a boca. — O diretor vai achar que o Natal chegou mais cedo.
A maioria dos prisioneiros ainda destruía as celas e qualquer outra coisa que estivesse ao alcance de sua mão. Vi o equipamento de ginástica sendo atirado ao fogo, e picaretas também, os cabos de madeira fazendo chamas vorazes se alvoroçar ainda mais alto. Alguém atirou ao fogo uma garrafa de fluido de limpeza da lavanderia, e ela desapareceu em uma explosão abafada, uma fonte de chamas púrpura dirigindo-se ao alto antes de desaparecer.
— Acha que consegue impedi-los de queimar o resto do que pode ser útil? — perguntei, enquanto Bodie e sua turma me seguiam.
— Se quiser tentar acalmá-los, vá em frente — replicou ele. — Mas, no seu lugar, deixaria que se livrassem de toda a adrenalina e agradeceria por não ser você nas mãos deles.
— Obrigado pela força — murmurei, tentando entrever algo além da exaustão, além da névoa de fumaça e do medo, para tentar montar um plano. — Vamos reunir tudo o que possa ser usado como arma. Picaretas, pás, e vocês devem ter cabos escondidos por aí. Se os ternos-pretos conseguirem entrar, precisaremos de toda a ajuda possível.
Bodie inclinou-se para uma dupla de Caveiras e deu uma ordem, observando-os correr rumo às salas de escavação. O restante de nós se encaminhou para o elevador, afastando-se o máximo possível do fogo. Havia prisioneiros por toda parte — alguns correndo, outros refugiados em celas vazias, como se esperassem ser trancafiados, outros ainda em combates brutais, rivais enfim conseguindo uma chance de lutar com os inimigos sem se arriscar ao confinamento da solitária.
— Só há uma coisa pior que uma prisão com guardas — disse Bodie. — Uma prisão sem eles.
Fiz o máximo que pude para ignorar o caos, tentando me concentrar. Estávamos sob cerco, e mais cedo ou mais tarde o diretor descobriria uma maneira de entrar ali. Quando isso acontecesse, tínhamos que estar prontos. Esse pensamento provocou em mim uma onda repentina de vertigem, a sala se tornando um giroscópio. Sentia-me como um tronco de árvore prestes a desabar, tendendo para a esquerda. Por sorte, Simon estava por perto e passou os braços ao redor de mim antes que eu atingisse o chão.
— Tudo certo com você? — perguntou Bodie.
— Ele está ótimo — Simon respondeu por mim. — É o néctar que está no fim. Segure-se em mim, Alex. Vai se sentir melhor em um minuto.
— Já me sinto melhor — respondi, afastando-o e endireitando o corpo. — Foi só um tropeção.
Não precisava ver o rosto de Simon para saber que não acreditava em mim, mas não havia tempo para me sentir doente. Passei a mão pela testa, sentindo o calor irradiar da pele, depois continuei a caminhar. Os dois Caveiras ao lado das portas do elevador levantaram as armas ao me ver, mas Bodie se apressou em ordenar que as baixassem.
— A prioridade máxima é abrir esta — eu disse, observando com atenção o elevador, a maciça placa negra e silenciosa. A distância entre as portas de aço reforçado era mais fina que um fio de cabelo, a junção bem encaixada para proteger a porta de ataques. Aquela espessura fina iria requerer algo especial. Mas, se havia conseguido provocar uma explosão para chegar ao rio lá embaixo, era capaz de fazer qualquer coisa. Sorri, a lembrança me trazendo uma ideia. — Mande alguns dos garotos à cozinha — falei, dirigindo-me a Bodie. — Peça a eles que tragam os bujões de gás do fogão. Ainda estão lá, certo?
— Estão — respondeu Bodie, acenando para mais dois Caveiras, que se movimentaram no mesmo instante. — Estão guardados a sete chaves desde que vocês escaparam, mas ainda estão lá. Está pensando em causar outra explosão por aqui?
Balancei a cabeça em um gesto negativo. O gás nas luvas havia detonado a superfície rochosa, mas com o aço era diferente. Ele não rompia, tampouco desmoronava. Duvidava que os bujões causassem até mesmo um amassado.
— Não. Acho que conseguiremos abrir a porta com as picaretas — respondi, antes de relancear o olhar para o lado, onde a porta da abóbada permanecia fechada e silenciosa. — Mas, se o diretor aparecer com aquela cara horrorosa por aqui, vai ter uma recepção bem calorosa.
Bodie riu, batendo uma das mãos no meu ombro.
— Gosto do seu jeito de pensar, grandão — ele falou, e por um segundo me lembrei de Gary, o ex-chefe dos Caveiras. Ele teria me trucidado se eu tivesse lhe dado ordens como havia feito com Bodie, mesmo achando que eu conhecesse a saída. Sem dúvida, Bodie era uma figura desagradável — afinal, era um Caveira —, mas pelo menos não era um psicopata.
Observei os dois primeiros membros da gangue atravessar de volta o pátio, cada um com duas picaretas penduradas nos ombros. Detiveram-se ao lado das portas do elevador, passando uma das ferramentas para mim e outra para Bodie.
— Quer mais uma? — perguntou um deles.
— Não, esta deve bastar — repliquei, agarrando o cabo de madeira e recordando das inúmeras bolhas que ele havia provocado em minhas mãos. Ganharia mais algumas até conseguir abrir as portas. — Afastem-se.
Os Caveiras obedeceram, recuando enquanto eu preparava o golpe da picareta. Ela atingiu a porta a mais ou menos um metro de onde eu pretendia, provocando um ruído que penetrou meus tímpanos e causando um impacto tal que quase separou minha espinha do crânio. Deixei a ferramenta cair, ouvindo uma série de gritos e incentivos dos Caveiras.
— Parece que alguém está precisando de treino em escavação — riu Bodie. — Quer fazer outra investida, ou vai deixar o trabalho para os profissionais?
Saí do caminho, assentindo com a cabeça. Meu golpe não havia sequer arranhado a superfície do elevador, mas quase me despedaçara em dois.
— Está bem, ela é toda sua — respondi com um sorriso. — Afinal, tenho que fazer uma bomba.
CERCADOS
Simon me seguiu ao cocho para verificar os bujões de gás. A confusão em Furnace ficava cada vez mais fora de controle a cada segundo que passava, os garotos procurando qualquer coisa que pudessem arrancar das paredes para jogar uns contra os outros. Mantivemo-nos em uma das extremidades da enorme sala, desejando ser invisíveis. Mas era algo impossível quando se é mais alto e mais corpulento do que qualquer outro no pátio, e, para completar, quando se veste um terno preto.
Adentramos o cocho, ambos lançando um olhar temeroso para as metralhadoras desativadas salientes nas paredes. A cantina ainda estava cheia, os bancos, ocupados por garotos mais sossegados que não queriam participar da loucura lá fora. Fugiram de nós quando nos viram atravessar a sala, os movimentos nervosos me lembrando gatos sem rumo.
— Algum de vocês quer ajudar? — perguntei. — Precisamos de armas e também de gororoba, se alguém souber cozinhar.
Ninguém respondeu, e mesmo a respiração dos garotos fora suspensa atrás dos lábios cerrados, até que Simon e eu transpusemos as portas que davam para a cozinha. Nada havia mudado; as paredes brancas e as superfícies de aço pareciam um refúgio se comparadas aos matizes de vermelho tingidos de fumaça da prisão. Pelo menos, até observar melhor as superfícies de metal e perceber como eram parecidas com as mesas de cirurgia lá embaixo.
— Não pense nisso — aconselhou Simon, e quase pude ver os mesmos pensamentos passando pela mente dele.
— Tudo bem por aí? — perguntei aos dois Caveiras agachados diante do fogão. Ambos tinham arrancado uma das pernas do balcão e a usavam agora como alavanca para arrebentar a corrente enrolada ao redor do fogão.
— Nem se mexe — murmurou um deles, a alavanca escapando da corrente com um solavanco.
— Precisa de um músculo extra aí? — perguntei, agachando ao lado deles e segurando a perna da mesa. Inserindo-a no espaço entre a corrente e o fogão, puxei-a com toda a força. Não havia pedido para me tornar um monstro, mas era agradável ver os elos de aço se esticar como massa de modelar, até o mais fraco sucumbir. — É assim que se faz.
Os Caveiras olharam para a corrente, depois um para o outro, e em seguida para mim.
— Lembre-me de nunca ficar contra você — falou um deles, a cabeça desaparecendo atrás do fogão. Ouvi o ruído de algo sendo desatarraxado, e o deixei entregue à tarefa, notando, ao me levantar, que Simon havia desaparecido. Segui o barulho de mastigação furiosa e o vi se empanturrando de alguns restos frios em uma tigela de gororoba. Encontrei seu olhar acima dela, e ele sorriu.
— Cara, acho que nunca mais vou experimentar algo tão gostoso assim — ele comentou. O ronco que brotou de seu estômago ecoou pela cozinha, fazendo-me perceber o quanto eu mesmo estava faminto. Aproximei-me dele, pronto para pegar um punhado, mas Simon afastou a gigantesca vasilha. — Não é uma boa ideia. Você recebeu néctar demais. Se tentar comer isso, vai vomitar tudo na mesma hora.
— Mentiroso! — respondi, arqueando uma das sobrancelhas. — Você quer é comer tudo sozinho. Injetaram néctar em você, e veja só como está comendo. Vamos, divida comigo.
Ele fez menção de protestar, depois pareceu ter pensado melhor.
— Não diga que não o avisei — murmurou.
Coloquei a mão ao redor da tigela, as papilas gustativas quase se emocionando ao depositar aquele mingau frio na boca. Simon tinha razão — depois de tanto tempo sem comer, achei que aquilo tinha gosto de ambrosia, um sabor melhor que qualquer outra coisa que já tivesse comido na vida, melhor até que a refeição que Monty fizera naquele mesmo lugar. Eu ria tanto que mal conseguia manter a boca fechada ao engolir.
Estava no segundo punhado, quando meu corpo reagiu. Alguém parecia ter enfiado dois dedos no fundo de minha garganta, o reflexo do vômito tão intenso que quase não tive consciência da náusea até ver o jato explodir de volta na tigela. Tentei vomitar de novo, sem produzir nada senão bile, e depois enxuguei minhas lágrimas, só para deparar com os olhos de Simon examinando a sujeira que eu tinha feito.
— Obrigado — ele falou. — Acha que eu quero comer seu vômito?
— Credo! — respondi, cuspindo uma bola de ácido. Caminhei até a torneira, lavando a boca antes de tentar engolir um pouco de água. Senti o líquido verter garganta abaixo, esfriando o rastro de fogo que a gororoba havia deixado. Felizmente, pelo menos a água pareceu se assentar bem.
— Líquido é bom; o diretor provavelmente lhe falou isso — disse Simon, procurando mais restos nas tigelas. — O néctar não vai permitir que você coma. Ele lhe dá tudo de que necessita. Quer dizer, até sumir por completo.
— E daí, o que acontece? — perguntei.
A resposta de Simon foi apenas um dar de ombros.
Ótimo! Então, quando chegasse à superfície e o néctar enfim secasse das minhas veias, eu morreria de fome. Mais um despontar de um futuro cor-de-rosa para agradecer a Furnace e ao diretor.
Se chegasse à superfície, entrou na conversa outra parte do meu cérebro. E ela tinha razão: ainda havia um longo caminho à frente antes da liberdade.
— Se já acabaram de se empanturrar, que tal pegarem isso? — sugeriu um dos Caveiras. Levantou um dos bujões de gás, um cilindro de metal com uma válvula em cima. Era pesado, pois todo o seu corpo tremia com o peso. Peguei-o com uma das mãos, examinando a válvula.
— Tem alguma ideia do que vai fazer com isso? — perguntou Simon.
— Não — repliquei. — A única coisa que sei sobre gás é que ele explode. Mas leve em conta que vai ser fácil manuseá-lo. Traga os outros quando os pegar. Vou voltar lá pra trás.
— Não se preocupe — respondeu Simon, a voz ecoando da tigela dentro da qual sua cabeça se perdera.
Eu estava na porta da cozinha, quando o som da sirene irrompeu, ainda mais alto que antes. Agarrei firme o bujão e corri com ele, abrindo caminho pela cantina, rumo ao pátio.
Zê. Só podia ser ele.
Os prisioneiros estavam em pânico, alguns correndo para as celas, como sempre haviam sido instruídos a fazer, outros se dirigindo ao pátio com armas improvisadas. Quando contornei o fogaréu, vi que os Caveiras antes postados próximo à porta do elevador agora estavam diante da porta da abóbada, as espingardas apontadas para o metal. Venci os últimos metros praticamente voando.
— O que é isso? — gritei, elevando o tom de voz acima da sirene.
— Não tenho certeza — respondeu Bodie. Enfiou uma bala na câmara da espingarda e prosseguiu: — Mas ouvi algo lá dentro, um ruído esquisito.
Por favor, Deus, faça com que seja ele, rezei, largando o bujão de gás no chão em um gesto frustrado. E se o ruído fosse dos ternos-pretos, enfim conseguindo subir ao piso inferior? E se fossem os guardas atirando em Zê sem parar até que...
— Se for o seu garoto, vamos deixá-lo passar, senão... — O sussurro de Bodie de repente se transformou num grito quando a sirene parou. O som fraco e monótono voltou depois de um instante, por mais ou menos um segundo, como uma descarga de bateria, antes de desaparecer no próprio eco. — O que...
Dessa vez eu mesmo ouvi o ruído. O som era mais um rangido — como um elevador distante lutando para subir. Ou uma porta se abrindo.
— A postos — falou Bodie. — Qualquer coisa que passar por aquela porta jamais deverá se levantar novamente.
— Mas e se...
Minhas palavras se perderam quando a sirene voltou a soar, oscilando entre mais baixa e mais alta e fazendo-me recordar de filmes em que os policiais ligam e desligam a sirene dos carros. Ouvi um clique profundo do outro lado da porta da abóbada, seguido de uma explosão de centelhas das dobradiças, que fez todos saltar para trás. Houve um solavanco no mecanismo, e, com o rangido de metal sobre metal, a porta começou a se abrir.
— Aqui vamos nós — gritou Bodie, assim que a sirene silenciou. — A postos. Todos a postos.
Com o alarme agora desligado, era como se toda a prisão estivesse com a respiração suspensa para ver o que surgiria porta afora, até mesmo o crepitar do fogo se reduzindo a um zumbido abafado. Uma cortina de centelhas explodiu das dobradiças ao se abrirem, passando a revelar o curto túnel à frente, além de uma única figura percorrendo-o a toda velocidade.
Alguém disparou um tiro, a arma brilhando em minha visão periférica, e uma parte da parede do túnel se fragmentou em uma explosão de pedras e fumaça. O garoto caiu, rolando desajeitadamente, e gritei para ele:
— Zê!
— Parem de atirar! — gritou Bodie. — Parem de atirar, droga!
Já estava no túnel antes da última sílaba, dirigindo-me para o feixe de ossos e trapos caído na superfície rochosa. Caí de joelhos a seu lado, ao mesmo tempo em que ele se levantava.
— Está louco? — ele gritou, levantando-me também.
— Desculpe, eles estavam atirando em você...
— Não é isso! Corra!
Estava tão concentrado em Zê que ainda não havia percebido o movimento que vinha da sala de controle, o aglomerado de negro e prateado que chegava pelo elevador.
— Corra! — Zê gritou de novo, voando na direção do pátio. Não foi preciso que falasse pela terceira vez. Corri, baixando a cabeça, para escapar dos ternos-pretos em nosso encalço. Então o mundo se dissolveu em ruído e fogo quando todos começaram a atirar, nenhum dos lados parecendo se importar se iríamos ou não ser atingidos ali no meio.
A guerra havia começado.
FOGO NO BUJÃO
O impulso do momento foi a única coisa que nos tirou vivos daquele túnel. Nem consegui abrir os olhos para ver aonde ia, as paredes alaranjadas à luz das chamas, a fumaça e o barulho por toda parte tão pungentes que chegavam a parecer sólidos, o ar tomado por milhares de balas opostas e letais — dois punhos de chumbo que se enfrentavam. Eu nem respirava, só corria, lançando-me pelo caminho de onde tinha vindo, esperando alcançar a porta antes de ser alvejado.
Escorreguei, tropeçando em uma forma indistinta à frente e colidindo contra a rocha. Ergui as mãos para proteger a cabeça. Sentia-me vagamente consciente de uma dor latejante na perna esquerda, mas não me permitiria parar para olhar.
— Fechem aquela porta! — ouvi alguém gritar, provavelmente Bodie.
Olhei para cima, toda a prisão pontilhada por tiros de espingarda. Era como assistir a um filme com luzes estroboscópicas, cada momento de vibração sublinhado por um tiro, uma explosão de luz e som. Um dos Caveiras voou para trás, como que atingido por uma mão invisível, os olhos sem vida questionando o teto distante. Alguém agarrou a arma dele e lutava para colocar uma bala na câmara.
— Vamos! — gritou outra voz. Vi Zê a meu lado, oferecendo-me sua mão. Eu a agarrei, levantando-me e recomeçando a caminhar com dificuldade. Bodie, Simon e mais um bando de garotos encontravam-se do outro lado da porta tentando fechá-la, e corri na direção deles, rosnando de dor quando algo atingiu minha orelha. Dei uma olhada dentro do túnel enquanto corria, vendo os ternos-pretos marchando implacavelmente, sem reduzir a velocidade nem tombar ao chão, apesar dos ferimentos visíveis através dos paletós rasgados.
— Eles não vão parar! — berrou alguém.
— Estou fora de ação! — gritou outro. — Precisamos de mais munição.
— Esqueça isso — replicou Bodie, os tendões do pescoço parecendo arames ao empurrar a pesada porta. — Se não conseguirmos fechar esta coisa, estamos todos mortos.
Foi tarde demais para um dos garotos, dessa vez um dos Cinquenta e Nove. Ele tombou para trás, o peito aberto, a arma atingindo a rocha com um ruído sombrio. Em um segundo, estava morto. Os outros Caveiras armados recuavam, a maioria tentando recarregar furiosamente o pente vazio das armas, e o restante disparando os últimos tiros pelo túnel.
— Não vai ajudar? — gritou Zê, que havia se juntado ao grupo atrás da porta, acrescentando os braços magros à pressão. Eu o ignorei, examinando o chão em busca do bujão. Ele havia rolado próximo à entrada do túnel, visível entre as pernas dos Caveiras que recuavam.
Mais uma vez erguendo as mãos para proteger a cabeça, corri na direção dele, o cheiro de pólvora queimando meus pulmões.
— Parem de atirar! — berrei, tentando elevar a voz acima dos tiros. Ergui o bujão e agarrei a válvula.
— O quê? — gritou o Caveira mais próximo, lançando outra rajada. — Ficou louco?
— Espere — falei. O garoto pôs a arma de lado e protegeu o corpo, esquivando-se da entrada. Seu olhar era de terror enquanto eu me ocupava do bujão. A válvula girou em um semicírculo, fechada em uma direção e aberta na outra. Mesmo quando girou totalmente, só liberou um leve assobio de gás.
Outro garoto tombou com um ferimento na perna. Ele gritava sem parar, e alguns Caveiras o arrastaram para longe da linha de fogo, antes que os ternos-pretos conseguissem acabar com ele de vez. Bodie não estava tendo muita sorte com a porta, a enorme placa de metal a cada segundo interminável movendo-se só alguns centímetros.
Era aquilo ou nada.
— Me deem cobertura — pedi, agarrando uma picareta e depois correndo para a porta. Os guardas continuavam a avançar, mas o número havia diminuído, poucos vultos visíveis à penumbra da fumaça e em meio à confusão.
Rezando para que meu tiro não saísse pela culatra, coloquei o bujão no chão com a válvula apontada para o pátio. Mantendo-a no lugar com meu pé, ergui a picareta e dei uma pancada na ponta. O metal atingiu a rocha, a um fio de cabelo de distância do bujão, fazendo com que uma centelha dançasse sobre ele. Meu coração quase parou, mas ergui de novo a picareta e a baixei outra vez, sem refletir muito nas consequências do meu ato.
Dessa vez, o golpe atingiu exatamente o lugar que eu visava, o ponto em que a válvula encontrava o metal. Ela se rompeu, e o bujão adquiriu vida, voando de sob meus pés com tanta força que eu quase caí. Mantive o equilíbrio a custo, observando o gás liberado seguir porta adentro, em direção ao túnel.
— Atirem ali dentro! — gritei. — No bujão!
Mas minhas ordens não eram necessárias. Um dos ternos-pretos deve ter feito o serviço por mim, atingindo-o por engano com sua arma de doze balas.
Houve um momento de absoluto silêncio e imobilidade, em que toda a prisão adquiriu um brilho branco, cada detalhe envolvido com um fio dourado, como uma tapeçaria celeste.
Então uma bolha de fogo azulada jorrou da boca do túnel, trazendo com ela todo o ardor e horror do inferno. O chão vibrou tanto que não pude afirmar que direção ela tomava, a onda de choque da explosão fez com que eu e todos ali voássemos pelo ar fervilhante.
Mesmo com a cabeça atordoada pelo barulho, soube que a sensação de estar voando durava tempo demais. Abri um dos olhos e me vi no chão, a mais ou menos vinte metros da porta da abóbada. O pátio que havia entre mim e ela era um lago de chamas azuladas, vultos nebulosamente humanos movendo-se nele como se se afogassem.
O que é que eu tinha feito?
Levantei-me, a prisão girando a meu redor como se a explosão a tivesse colocado em órbita. Cambaleando pela ardente superfície rochosa, cheguei ao túnel, ou ao que restava dele. Parecia ter virado às avessas: fragmentos maciços de rocha soltos do teto, misturados a metralhadoras, tudo espalhado pelo chão, e pedaços do que deveriam ter sido ternos-pretos grudados no alto.
Havia fumaça demais, que bloqueava minha visão da sala de controle, mas não era preciso olhar lá dentro para perceber que nada poderia ter sobrevivido ao impacto daquela explosão. Nem mesmo um terno-preto. No pátio, o lago de fogo tinha espaço suficiente para se espalhar, perdendo sua força. Mas, no espaço confinado do túnel e na sala adiante dele, fora como a explosão de uma bomba atômica.
A porta da abóbada ainda estava intacta, embora uma parte da rocha onde se encontrava incrustada tivesse desmoronado, deixando-a pender fracamente da parede.
De repente, percebi um murmúrio soando em meus ouvidos. Virei-me e avistei Bodie próximo de mim, o rosto o mesmo, embora de algum modo diferente. Não consegui compreender o que dizia, mas pude ler seus lábios o suficiente para entender que não era nada agradável. Atrás dele, vi vários garotos fugir, todos esfregando o rosto sujo e pressionando os dedos contra os ouvidos. Exceto os membros da gangue que haviam tombado durante o combate armado, os demais pareciam se mover, ainda que fosse apenas para se contorcer no chão. Para meu alívio, vi Zê entre eles, cambaleando em círculos enquanto tentava recuperar o equilíbrio.
— ... loucura... passou por sua cabeça... enterrado todos nós... — Eu era capaz de captar fragmentos do que Bodie dizia. Ele viu minha confusão e caminhou direto para mim, a voz resumindo o que tinha ouvido: — Falei que era loucura. Podia ter matado a todos nós.
— Mais alguns segundos, e os ternos-pretos teriam avançado pela porta — repliquei. Mas minha voz estava tão distante que parecia a de outra pessoa. — Se tivessem conseguido consertar o elevador, agora haveria dezenas de bastardos aqui, sem falar nos cães. Acha mesmo que teríamos munição suficiente para contê-los?
— Bem — disse Bodie fitando o túnel —, acho que não. Mas isso foi um pouco radical, você não acha?
— E poderia ter avisado antes também — acrescentou Zê. — Queimou minhas sobrancelhas. — Ele olhou para mim e se esforçou ao máximo para sorrir. — Parece que não sou o único.
Levei minha mão à testa e senti a pele lisa acima dos olhos, dolorida ao toque. Um rápido olhar para Bodie, e percebi que era por esse detalhe que seu rosto parecia tão diferente.
— Vocês dois parecem um desenho interrompido — falei. — Poderia pintar as...
— Acha mesmo que este é o momento certo para dicas de beleza? — cortou Bodie.
— Ora, estamos vivos, não estamos? — repliquei, examinando a perna e observando pequenas lesões na pele causadas pelo impacto do chumbo. Deviam ser balas que ricochetearam. Eu tivera sorte. — Vamos, precisamos dar uma ordem nesta bagunça e descobrir se todos estão bem.
Ignorei os resmungos de Bodie e me virei para o primeiro garoto que avistei, lutando para se livrar de uma pilha de poeira e detritos. Além de uma pequena queimadura e muito susto — e a ausência de sobrancelhas —, parecia estar bem. Pedi que se dirigisse à cantina, avisando que logo alguém o examinaria adequadamente. Com o próximo garoto foi a mesma coisa: ele estava traumatizado, mas inteiro, e pouco a pouco havia uma fila irregular de Caveiras e Cinquenta e Nove se encaminhando com pouca firmeza para a sala do cocho.
Minutos depois, todos tinham migrado para o ambiente mais fresco do outro lado do pátio, deixando Zê e eu sozinhos com os Caveiras remanescentes e dois corpos dilacerados ao lado da porta. Bodie cobriu o rosto deles com retalhos de macacão e se ajoelhou, falando algo baixinho. Fiquei ali, constrangido, até ele terminar.
— Eram bons garotos — respondeu ele, enxugando uma lágrima do olho. — Bons homens, quero dizer. Conhecia os dois da rua, sempre guerreiros. Devem ter gostado de morrer lutando.
Zê e eu trocamos um olhar, mas Bodie não percebeu. Bateu o punho cerrado sobre o peito duas vezes, no que foi imitado pela pequena multidão, e depois voltou ao túnel.
— Temos de checá-lo — avisou. — Só para ter certeza de que está tudo bem.
— Precisamos também obstruí-lo — acrescentei. — Haverá mais ternos-pretos de onde vieram esses, e, quanto mais guardas eliminarmos, mais loucos ficarão.
— Sem dúvida — concordou Bodie. — Vá na frente.
Tropecei no metal retorcido da moldura da porta, quase escorregando em uma pilha de pedras soltas enquanto penetrava o túnel. A única luz no ambiente era uma lâmpada da sala de controle que piscava como se transmitisse um sinal secreto; isso e o brilho incansável da fogueira no pátio. Zê agarrou meu braço, escorando-se nele para manter o equilíbrio ao avançar. Juntos, escorregamos e tropeçamos na escuridão intermitente, talvez esperando que um terno-preto ressurgisse das cinzas para vingar seus irmãos.
— O que aconteceu aqui? — perguntei, esperando que minha voz afastasse o temor envolto em sombras. — Como conseguiu abrir a porta?
— Fiz ligação direta nos controles — explicou Zê, contornando um amontoado do que poderiam ser canos de espingarda ou ossos despedaçados. — As portas estavam em um circuito à prova de erros, e, quando redirecionei os fios, consegui enganar o sistema da porta principal, levando-a a acreditar que a porta interna estivesse fechada. A dificuldade foi...
Algo se moveu à frente, sem ser visto, mas perfeitamente ouvido, e nos detivemos de imediato. A lâmpada piscou, a luz fraca resistindo, e então percebemos mais detritos despencando do teto.
— A dificuldade foi... — continuou Zê assim que retomamos a marcha — ... ter que trocar algumas das conexões elétricas que havia por perto. E, no segundo em que separei a energia do circuito da porta, percebi que a tinha desviado também para o elevador lá embaixo. — Ele riu, embora transmitisse no riso toda a tensão daquele momento. — Alex, devia ter visto minha cara quando os ouvi subindo. Essas portas se movimentam tão devagar que, quando consegui que as duas se abrissem, os ternos-pretos já estavam quase em cima de mim. O resto da história você já conhece.
Saímos do túnel e entramos na sala de controle. A porta daquele lado tivera destino pior, tendo sido arrancada por completo da parede e se apoiado contra o elevador. Era visível que a cabine não havia conseguido chegar até o alto, a camada de detritos antes atirada sobre ela impedindo seu progresso total. O elevador parara ao atingir a altura do nosso joelho. Embora, é claro, houvesse espaço suficiente para a saída dos ternos-pretos.
— Caramba — murmurou Zê. — Isto aqui está um caos.
Ele tinha razão. A sala de controle estava completamente negra, como se fosse escavada no carvão. A mesa de equipamentos eletrô-nicos era apenas um aglomerado de plástico e metal derretidos, restando aparentes apenas alguns fios. Voltei-me para Zê e o vi morder o lábio inferior. Ele ruminava algum pensamento.
— O que foi? — perguntei. Ele se virou e viu Bodie e os Caveiras entrar na sala, então se inclinou em minha direção.
— Quer primeiro a boa ou a má notícia? — sussurrou, sem esperar pela resposta. — A boa é que o diretor não pode controlar muita coisa sem uma sala de controle. A má é que nós também não podemos.
Fixei os olhos no dele, sacudindo a cabeça para lhe mostrar que não havia entendido. Ele lançou outro olhar para os Caveiras antes de sussurrar as palavras no meu ouvido:
— Estou dizendo que este era o único lugar de onde poderíamos acessar os controles do elevador principal. Sem eles... — Senti o coração apertar. Virei-me para Zê e concluímos juntos sua declaração:
— ... estamos ferrados.
A CALMARIA ANTES DA TEMPESTADE
Ficamos ali no meio da sala de controle pelo que pareceu uma eternidade, tentando ordenar nossos pensamentos. Zê por vezes dava um chute na surreal escultura de equipamento derretido, como se desejasse milagrosamente achar uma solução naquele caos, mas era uma causa perdida.
— O que era isso aqui antes de ficar assim? — perguntou Bodie, tropeçando em uma pequena montanha de entulho e fragmentos de rocha para se aproximar do elevador. Inclinou-se e tentou colocar a cabeça lá dentro, para dar uma olhada na escuridão sob seus pés.
— Era apenas uma sala — respondeu Zê quase sem pensar, trocando um olhar comigo, pouco à vontade. — Nada de especial.
— E esta coisa leva a gente lá embaixo, onde está o diretor? — perguntou Bodie, espichando a cabeça para o fosso e sacudindo os restos carbonizados das grades do elevador.
— Sim — Zê e eu confirmamos juntos. Completei: — É a única maneira de subir ou descer dos níveis inferiores.
Bodie sorriu, os dentes brilhando como diamantes em contraste com a escuridão do ambiente.
— Parece que as mesas foram viradas de cabeça para baixo — ele falou. — Você realmente acabou com esta sala; ela não vai dar mais em lugar nenhum. — Bodie voltou a enfiar a cabeça na fenda do fosso, o que me lembrou alguém entrando na boca de um leão. Quando voltou a falar, gritou: — Ei, diretor, está me ouvindo aí embaixo? Está ouvindo o que estamos dizendo? Vocês agora são nossos prisioneiros. Invadimos este local, e vocês jamais vão conseguir subir. Está me ouvindo?
Prendemos a respiração, aguardando uma resposta, mas as entranhas da prisão ficavam muito abaixo de nós. No entanto, era gratificante imaginar o diretor escutando as palavras de Bodie. Imaginei-o agitado em um misto de frustração e raiva, os cantos da boca espumando, voltando sua fúria agora contra os pobres ternos-pretos, que de repente se viam lutando do lado errado em uma guerra que não havia feito nenhum prisioneiro.
Nenhum prisioneiro, pensei comigo mesmo, o rosto ardendo quando meus lábios se retorceram num sorriso. Isso é engraçado, Alex.
Por alguma razão, a voz em minha mente me fez pensar em Donovan, e o sorriso se desmanchou com rapidez. Queria que ele estivesse ali, mais que qualquer outra coisa, mais até que encontrar uma saída da prisão. Ele merecia estar ali. Havia sido tão corajoso em sua luta, sempre sabendo exatamente o melhor a fazer. Mas não estava com a gente. Estava morto. Eu o tinha matado.
Senti um bolo subir pela garganta, tão grande que era como algo com vida própria tentando escalar minha traqueia. Segui na direção do túnel, sem me importar se tropeçaria ou não nos destroços do chão; só queria sair dali, me afastar do cheiro da morte.
— Alex? — gritou Zê atrás de mim. — Você teve alguma ideia? Alex?
Não parei, movendo-me sobre os detritos como o monstro de Frankenstein, lutando para chegar ao pátio. Só me acalmei quando me vi fora do túnel, o enorme pátio da prisão sendo a coisa mais próxima que conseguiria encontrar de um ambiente com ar fresco.
Sinto muito, D, falei mentalmente, e depois repeti as palavras em voz alta.
— O quê? — perguntou Zê, que ainda me seguia. — Disse alguma coisa? Se tem um plano, precisa me contar.
— Não tenho plano nenhum — respondi.
— Vamos continuar trabalhando no elevador principal — ouvi a voz de Bodie ecoando do túnel. Ele surgiu momentos depois. — Vamos abri-lo e descobrir como fazê-lo funcionar. Você acha que podemos explodir as portas com outro bujão de gás?
Tanto Zê quanto eu negamos com a cabeça.
— Não viu com seus próprios olhos? — perguntei. — Usamos o gás no túnel, e o outro elevador ficou preso lá embaixo para sempre, assim como nós.
Bodie fez um aceno com a cabeça, as engrenagens de seu cérebro praticamente visíveis através do olhar. Após um instante, encaminhou-se às portas do elevador e pegou a picareta apoiada nelas. Simon encontrava-se ali, uma queimadura da explosão exibindo-se em seu braço gigantesco, mas, tirando isso, estava ótimo. Já segurava o martelo, examinando várias marcas brancas nas portas de aço, única evidência de que alguém havia tentado arrebentá-las.
— Certo — disse Bodie, apoiando a picareta no ombro. Os Caveiras tornaram a se reunir ao redor dele, aguardando novas ordens, assim como alguns Cinquenta e Nove e outros prisioneiros. — Vamos dar continuidade ao trabalho nas portas. Pug, Brian, Rich, peguem a munição que deixamos lá — ele apontou para o túnel — e tragam para cá. Certifiquem-se de que não teremos nenhuma surpresa vinda lá de baixo.
Os três Caveiras passaram a procurar espingardas, retirando os cartuchos. Eu os observava com crescente desalento, até que a pilha de cartuchos vermelhos atingiu sete e depois parou. Dividiram a munição entre eles, deixando uma espingarda com um único cartucho para Bodie, antes de cruzarem a porta da abóbada.
— Alex, Zê, eles vão precisar da ajuda de vocês com a porta — falou Bodie.
— Me dê apenas um minuto — repliquei. — Tem uma coisa que preciso fazer.
Saí com Zê grudado do meu lado, o ruído das picaretas no aço sendo uma serenata sem melodia a marcar nossa partida. Ao redor, os prisioneiros pareciam ter se acalmado, a explosão enfatizando a realidade malévola e mortal em que se encontravam. A maioria estava sentada nos patamares, as pernas pendentes balançando, enquanto observava o trabalho dos Caveiras. A atenção dos prisioneiros se voltou para nós ao passarmos sob eles, e, toda vez que olhava para cima, via o fogo crepitar em seus olhos, como se fossem demônios à espreita para atacar.
— Tem algo em mente? — indagou Zê. — Ou só quer dar um passeio?
Não respondi. Apenas tomei a dianteira ao longo do enorme pátio, avançando na direção das salas dos chuveiros. Ao me aproximar, transpondo a passagem na rocha, vi o que procurava: uma montanha de macacões brancos contra o chão avermelhado. Tirei o paletó, encolhendo-me quando os músculos doloridos protestaram.
— Não adianta pôr roupas limpas — comentou Zê. — Logo vai virar um caos de novo.
Um risinho explodiu nariz afora, muito baixo para ser ouvido por Zê, e então desabotoei a camisa.
— Um pouquinho de privacidade seria ótimo — falei. Mas Zê não se moveu, os olhos fixos no meu peito enquanto eu atirava ao chão o uniforme em frangalhos.
— Santo Deus... — exclamou ele. — Alex, como você continua andando?
Olhei para baixo e deparei com as marcas de garras, que haviam aberto três enormes sulcos no meu peito. Ao redor delas, havia uma colcha de retalhos costurada com cicatrizes, algumas ainda com pontos de cirurgia, a pele mal contendo a carne protuberante sob ela. Além dos hematomas — tantos que eu parecia navegar em um mar de suco de uva. A maioria já começara a clarear, ganhando um horroroso tom de amarelo matizado.
— O néctar — respondi, cutucando uma ferida perto das costelas e imaginando onde a tinha adquirido. O ferimento já se fechara em uma camada de sangue escuro coagulado, o veneno realizando seu trabalho para salvar minha vida. Não deveria restar muito dele em mim agora. — Afinal, acho que tenho que ser grato ao diretor pelo menos por alguma coisa.
— É, por isso, e também pelos peitorais, cara — falou Zê. — Você está parecendo um Mister Universo, ou algo assim. As garotas vão ficar loucas quando sair daqui.
Ambos rimos baixinho. Flexionei um dos braços, vendo o bíceps atingir o tamanho de um melão. Sim, era mesmo impressionante, mas aquela visão me deu vontade de vomitar mais uma vez. Não era de fato o meu músculo ali embaixo; era algo muito velho e podre costurado sob minha pele. Felizmente, Zê quebrou a tensão flexionando os próprios braços. Parecia um ancinho com ganchos de palito.
— Imagino que eu seja capaz de atrair algumas donzelas com estes também — ele replicou, e dessa vez nosso riso percorreu o ambiente como água corrente em um rio. — Sério, Alex, o que o diretor fez com você?
— É complicado — falei, sem saber direito por onde começar. — Não sei o que é, só sei o que faz. Torna-me forte, Zê; me dá um poder que jamais imaginei que poderia ter. Mas... — Zê não me pressionou, aguardando pacientemente que eu continuasse. — Mas o preço que você paga por esse poder é... bem, não sei... Você se perde na raiva, no ódio. Quanto mais isso acontece, mais sua personalidade vai desaparecendo. Se acontecesse por muito mais tempo, eu me tornaria um animal, como os ratos, como Gary.
Zê franziu a testa, depois começou a rir. Olhei para ele, a expressão confusa.
— O que foi? — perguntei.
— Alex, o que está me dizendo é que o diretor transformou você no Incrível Hulk.
— O quê? — repeti, a voz uma oitava acima.
— Você não é como eu quando estou zangado — murmurou Zê, e dessa vez ri com ele. — O Hulk destrói! — Ele percorreu a sala com passos pesados por alguns segundos, batendo as mãos no peito como um gorila. Depois se acalmou, enxugando as lágrimas dos olhos. — Nem precisa me dizer por que estamos aqui nos chuveiros.
Afastei-me de Zê e tirei a calça, tentando não olhar muito para as cicatrizes que percorriam todo o meu corpo como veias aparentes.
— Bem — comentou Zê —, agora fiquei realmente preocupado...
— Me dá um tempo — resmunguei como um velho ao me inclinar e dar uma busca minuciosa na pilha de macacões da prisão. A maior parte deles era pequena demais para mim, mas, depois de procurar por mais alguns minutos, encontrei um que havia ficado mais folgado devido ao tempo de uso. Devagar, enfiei os pés dentro dele, levantando a metade superior sobre as costas. Estava apertado nos braços, e, quando os mexi, o macacão rasgou sob as duas axilas, mas fora isso me serviu bem.
— Meu traseiro parece muito grande nisto aqui? — perguntei, dando uma virada desajeitada para Zê avaliar.
— Tudo em você parece grande nisso aí — ele respondeu. — Tem certeza de que quer trocar esse traje elegante e confortável pelos trapos da prisão?
— Sim, tenho certeza. — Peguei o terno e fiz uma bola com ele. — Sou um de vocês, Zê; sou um prisioneiro, não um terno-preto. Eles podem ter me vestido na pele de outra pessoa, mas não podem me obrigar a usar o terno; não agora.
— E se precisar dele mais tarde? — perguntou Zê. — Quero dizer... como disfarce ou algo do gênero.
— Eles sabem quem eu sou. Não dá mais para fingir. E, seja como for, prefiro morrer usando o mesmo uniforme que você, que todos aqui, a passar mais um segundo dentro desse terno preto.
Ficamos ali parados por um momento, escutando as gotas de água caindo do chuveiro, de repente conscientes do imenso manto de silêncio que envolvia o lugar.
— Acha que vai acontecer com a gente? — Zê sussurrou. — Quero dizer... vamos morrer?
— Não diria que temos grandes chances de nos salvar — retruquei. — Mas chegamos até aqui, não chegamos?
— Sim, chegamos.
— E agora há apenas um conjunto de portas de aço entre nós e a liberdade.
— Sim, as portas do elevador. E mais os ternos-pretos abaixo de nós e os guardas no Forte Negro. E a cerca eletrificada e os portões, sem mencionar Alfredo Furnace e quem quer que ele traga para a festa. Ah, tem também a polícia, no caso de conseguirmos chegar às ruas.
— É, tem isso também. Mas, em primeiro lugar, as portas.
— Falando nisso — disse Zê —, acho que devemos ir até lá para dar uma mãozinha.
Saímos sem trocar mais palavras, deixando para trás o silêncio e a quietude das salas dos chuveiros. Dessa vez, não tomei o caminho que contornava o pátio, indo direto para onde a fogueira ainda ardia. Podia sentir seu calor contra minha pele a trinta metros de distância, como mãos invisíveis me atraindo. Continuei me dirigindo à montanha de lençóis ardentes, mais alta do que eu. Bem, pelo menos não corria o risco de perder as sobrancelhas de novo.
Atirei o terno às chamas, observando as línguas de fogo o envolver como se o provassem para descobrir seu sabor. Depois uma boca pareceu se abrir do calor infernal, engolindo-o com um rugido de satisfação. Observei até que não restasse mais nada além de cinzas. Se houvesse uma maneira tão fácil assim de destruir todas as marcas do trabalho do diretor...
— Acabou — falei, desejando ter pensado em algo mais original para dizer, ou algo que valesse a pena ser dito. Então o calor se tornou forte demais e me afastei, seguindo para o elevador. Pode ter sido minha imaginação, mas senti meus passos mais suaves ao caminhar pelo pátio — talvez não aparentasse ser mais amigável, mas com certeza menos odioso. Ainda parecia um terno-preto, porém, havia escolhido de vontade própria minhas cores. Usava o macacão branco da prisão. Era um deles.
Simon ainda se encontrava perto do elevador, agora conversando com Zê, a picareta em sua mão gigantesca e o suor lhe escorrendo pelo corpo. Assim que me viu, comentou:
— Belo conjunto. Embora pudesse passar por uma reforma.
Eu olhava para os buracos no uniforme, os fios que escapavam de cada costura, quando ouvi algo se acender acima de minha cabeça. Recuei instintivamente, os demais me imitando, os olhos fixos no enorme monitor montado acima das portas do elevador. A tela piscou, o logotipo de Furnace girando preguiçosamente sobre um fundo preto. Depois a imagem sumiu, para revelar uma visão que provocou gritos de aflição por toda a prisão.
— Está acabado — murmurou o diretor, o rosto em um close imenso, os olhos mais do que nunca poços sem luz numa promessa de sofrimento eterno, portais gêmeos parecendo se dirigir especificamente a mim. — Façam sua escolha. Entreguem os traidores, ou todos morrerão.
ULTIMATO
— Obediência é a diferença entre a vida, a morte e as outras variedades de existência ofertadas aqui em Furnace — ouvi a voz do diretor na tela, repetindo a mesma frase que eu já tinha ouvido tantas vezes antes.
Estudei seu rosto, observando o hematoma que havia começado a tomar conta da base de seu nariz, unindo-se às profundas bolsas sob os olhos. Outra cicatriz se estendia da orelha ao colarinho da camisa, provavelmente onde Zê o tinha chutado. Parecia vítima de um espancamento, mas não havia sinal de fraqueza no olhar impiedoso, que inundava a prisão com uma névoa de escuridão fria e invisível.
— Alguém deu uma boa surra nele — comentou Bodie, a voz abafada sendo o único som no pátio além da fogueira. Voltou-se para mim. — Foi você?
— Trabalho de equipe — respondi.
— Excelente — ele falou. — Imagino como ele se sentiu...
— Silêncio! — bradou o diretor, a palavra sendo quase um grito, fazendo todos recuar um pouco mais.
Recordei os monitores nos aposentos do diretor e aqueles que haviam sido montados na sala de controle. Examinei a parede à frente, até achá-lo: um olho negro na rocha entre as portas do elevador e o rosto do diretor, a câmera pela qual devia estar nos observando.
— Aqui é minha casa — ele prosseguiu. — E na minha casa uma rebelião como esta é punida com a morte.
Essa última palavra foi um sibilo de cobra e provocou uma onda de soluços e gritos dos prisioneiros que me cercavam. Ele parecia farejar o medo dos garotos mesmo por entre camadas de rocha, as narinas se dilatando e o lábio superior se retorcendo para cima, para revelar dentes amarelos tão grandes quanto lápides através do monitor.
— Em relação à maioria, estaria disposto a perdoar esta infração. Tenho observado vocês e sei quem são os responsáveis. Aqueles que retornarem para as celas e aguardarem que meus homens os tranquem lá não serão punidos. Sou capaz até mesmo de perdoar os que fizeram a fogueira, mas com uma condição.
— Aí vem ele — disse Simon. Ele havia se aproximado de mim, preparando-se para o inevitável.
Fixei meus olhos nos do diretor, tentando lembrar como pareciam frágeis da última vez que os vira — sem brilho, aquosos e totalmente humanos. Mas tudo o que conseguia ver agora eram buracos negros que faziam o resto da prisão se desintegrar ao redor deles, cada fragmento de matéria rastreável sendo sugado para suas profundezas sem alma. Enquanto o encarava, hipnotizado, era como se a voz do diretor tivesse se dividido em duas, causando uma onda de vertigem que quase me fez tombar ao chão.
— Tragam-me os três prisioneiros que escaparam dos níveis inferiores — disse uma das vozes, a principal, que explodiu dos alto-falantes ocultos ao redor da tela. A outra voz não tinha fonte física. Parecia vir do abismo dos olhos do diretor, um estrondo sônico que explodiu dentro do meu cérebro.
Como você se atreveu?, disse-me ela, a força das palavras tornando minha visão turva. Eu lhe dei uma força que você jamais imaginou possuir, um poder além de seus sonhos mais ousados, e é assim que me agradece?
— Alex Sawyer, Zê Hatcher e Simon Rojo-Flores. Tragam-me esses três e considerem a dívida comigo totalmente saldada — prosseguiu ele. — A vida continuará como sempre, e essa confusão será esquecida.
A outra voz falou ao mesmo tempo, o tom mais suave que o da real, mas de algum modo um milhão de vezes mais alto.
Nunca senti tanto desapontamento, tanta vergonha. Atirar tudo o que lhe ofereci de volta na minha cara. Eu lhe mostrei segredos que fariam o mundo se curvar diante de você, e lhe prometi um lugar na nova Pátria, ainda a ser revelado.
— Que outra escolha vocês têm? — Os lábios do diretor se moviam para compor essas palavras. — Não há saída da Penitenciária de Furnace. Suas tentativas serão inúteis, e, se insistirem nelas, garanto que vão encontrar uma morte terrível.
O crime que você cometeu aqui é inominável e inesquecível. A voz ia ficando cada vez mais alta dentro do meu cérebro, cada sílaba uma lâmina de faca. Não há punição suficientemente adequada para um traidor como você, mas acredite-me quando digo que vai conhecer toda a dor do mundo antes de encontrar uma morte terrível.
As palavras reais do diretor e aquelas na minha cabeça eram perfeitamente sincronizadas, de modo que o final da frase — “en-contrar uma morte terrível” — pareceu ressoar através de mim. Senti a força em minhas pernas desaparecer; tentei, mas não con-segui me manter em pé.
— Ele não pode salvá-los — berrou o diretor, enquanto eu caía de joelhos. — Olhem como está fraco. Não está como um de vocês, nem como um de nós. É um covarde, um traidor, um mutante, um rato, e deve ser descartado como lixo.
Como a criatura se sente quando o poder desaparece? Como é se sentir como o garoto patético que era antes? Como é saber que, mesmo quando o esmagarem até a morte, eu continuarei trazendo-o à vida para experimentar mais dor, mais sofrimento? Oh, sim, a morte não vai encontrá-lo aqui com rapidez.
Tanto Simon quanto Zê tinham as mãos nos meus ombros, a voz deles ao longe me chamando, mas tudo o que conseguia sentir era o veneno do diretor penetrando em meu cérebro, e tudo o que conseguia ouvir era sua voz real na tela.
— Esta situação logo estará acabada, e cabe a vocês decidir de que maneira ela vai terminar. Escolham um dos caminhos, e todos terão a escuridão como resposta. Escolham outro, e, no confinamento da cela amanhã, isto será apenas uma lembrança distante. — O diretor inclinou-se na tela, os olhos se expandindo até não serem nada além de um furacão de noite escura. — Deixem os cadáveres deles ao lado do elevador.
Os últimos fragmentos de cor desapareceram do monitor, e ele se apagou. Com isso, a dor da voz do diretor explodiu em minha cabeça como um pássaro assustado, deixando-me com nada além de náusea. Eu a sacudi, permitindo que Simon e Zê me ajudassem a levantar.
Cada par de olhos estava fixo em nós. Bodie e seus Caveiras ainda brandiam as picaretas, mas não olhavam mais para o elevador. Em vez disso, balançavam as ferramentas como se fossem um só ser, vindo em nossa direção.
— Matem-nos! — gritou alguém de algum lugar acima de nós. A voz foi acompanhada de outras, tornando-se uma onda de som poderosa o bastante para por si só me dilacerar. Bodie fitou a multidão, depois olhou para o Caveira à esquerda, que deu de ombros.
— Ele está nos dando imunidade — disse o garoto. — Muito generoso, em se tratando do diretor.
— E tudo o que temos que fazer é matar esses três — acrescentou Bodie. — Não parece um trato justo?
— Esperem — comecei, sendo interrompido por outra onda de gritos dos prisioneiros. Mesmo passado o meu medo, a cena se assemelhava cada vez mais para mim ao Coliseu, a condenação à morte decidida pelos gritos da multidão. — Bodie... — tentei de novo. — Pense bem...
Imaginei o diretor assistindo aos eventos que se desenrolavam nas telas diante dele, rindo enquanto éramos triturados contra as rochas. Estava determinado a não demonstrar medo, mas meu rosto era uma máscara de puro terror, e não havia nada que eu pudesse fazer para mudar aquilo. Bodie estava prestes a atacar agora, as articulações quase brancas em torno do cabo da picareta. Os Caveiras e os Cinquenta e Nove nos cercavam, formando um círculo de corpos, enquanto os outros garotos desciam os degraus para obter uma visão mais clara.
Ou para se juntar às gangues quando o abate começasse.
— Querem que eu os mate? — gritou Bodie, dirigindo-se à turba. Ouvi alguns gritos, mas os prisioneiros pareciam inseguros agora. Havia uma insanidade no olhar dele, uma loucura que deve tê-los assustado tanto quanto assustou a mim. — Querem que eu mate esses três, os únicos que tiveram coragem de enfrentar o diretor? Os únicos que podem nos tirar daqui? Querem que eu os mate porque o diretor ordenou?
Dessa vez a prisão ficou em silêncio.
— Para quê? Para que ele possa nos trancafiar de novo? Para que voltemos a acordar todas as manhãs com medo da própria sombra, e ficar despertos à noite esperando os Ofegantes?
— O diretor disse... — surgiu uma voz atrás de mim.
— É, o diretor disse — interrompeu Bodie, alto o bastante para todos ouvirem. — O diretor disse que morreríamos se não obedecêssemos. Disse que teríamos de matá-los. Ele disse um monte de coisas, mas o fato é que está dizendo coisas, em vez de fazer coisas. Quando algum de vocês o viu fazer isso? Ele está preso sob nossos pés, ele e os ternos-pretos. Alex, Zê e Simon os colocaram lá, no fundo de um fosso, e não sairão de lá tão cedo.
Dessa vez, as palavras abafadas que emergiram da multidão foram murmúrios de assentimento, e, pela primeira vez desde que o diretor desaparecera da tela, senti meu corpo relaxar. Não muito, mas o bastante para me permitir respirar.
— Todos vocês conhecem as regras da rua — prosseguiu Bodie. — Bem, pelo menos os que estão aqui por causa do jogo. Os que falam são os derrotados por aqueles que jogam. E os únicos que falam demais são os que não têm mais poder, senão o da própria voz.
Aquele traço de insanidade ainda era visível no olhar de Bodie, mas agora ele me lembrava um sacerdote fazendo seu sermão, todo apocalíptico. E estava funcionando. Os murmúrios se transformavam em algo mais, um coro de euforia nos cercando.
— Não posso prometer que vamos todos sair daqui. Não posso prometer sequer que algum de nós sairá. Mas de uma coisa tenho certeza: temos mais chance nos mantendo vivos e lutando para fugir desse lugar que sentados na cela, esperando que o diretor nos pegue um por um. Então...
Ele levantou a picareta e a apontou para minha testa.
— Se quiserem que eu os mate, digam — ele prosseguiu, e de repente toda a prisão voltou a se calar. — Ou preferem dizer ao diretor onde enfiar seu perdão e depois dar o fora daqui?
O coro dos prisioneiros irrompeu, estimulando Bodie a se virar e arremessar a picareta na tela. Ela atingiu um dos cantos, e uma fenda gigantesca percorreu o vidro de fora a fora. Sem se deter, Bodie agarrou a espingarda apoiada nas portas do elevador e a apontou para a câmera.
— Ora, vá se danar — eu o ouvi dizer quando puxou o gatilho, o olho negro explodindo em um vulcão de estilhaços e fagulhas. Atirou a arma vazia ao chão e caminhou até onde estávamos.
— Obrigado — falei, imaginando o diretor espumando de raiva em sua cadeira ao ver o monitor se apagar. — Como conseguiu virar o jogo desse jeito? Eu achava que já tínhamos virado carne moída.
— O dom da fala — replicou ele. — Com o tempo, acostumei a usar minha língua para alguma coisa aqui.
— O diretor não vai gostar nem um pouco — comentou Zê. — É melhor a gente se apressar em abrir o elevador.
— Tem razão — concordou Bodie. — Pelo menos sabemos que ele está assustado. Mostrou a mão cedo demais, e ela está vazia. Ele sabe que temos chance de chegar à superfície... ele deve saber que há uma chance.
— Bem, mãos à obra — falou Zê.
Arrisquei uma olhada rápida por sobre o ombro, imaginando se ainda existiriam prisioneiros querendo me pegar só para dar fim àquele cerco. Havia centenas de pares de olhos grudados em mim, mas não rastreei nenhum olhar assassino. As palavras de Bodie tinham sido convincentes, do tipo que eu mesmo gostaria de ter falado. Ele unira os garotos de Furnace; agora os prisioneiros estavam conosco na vitória ou na derrota, na vida ou na morte.
Bodie, Zê e Simon já se afastavam, mas ergui uma das mãos e os detive a meio caminho.
— Espere um minuto — disse a Simon. — Não pense que vai sair assim de fininho. Tenho uma pergunta a lhe fazer e preciso que me responda com sinceridade. Não me venha com mentiras.
Simon estacou, a expressão assustada, e ergueu as mãos como se temesse pela vida. Zê e Bodie me encaravam, provavelmente achando que eu devia ter enlouquecido, mas fixei em Simon meu olhar mais sério, embora não tenha conseguido mantê-lo por muito tempo antes de irromper em risos.
— Rojo-Flores? — perguntei. — Que diabo de nome é esse?
AS PORTAS DO ELEVADOR
Bodie estava certo. Cinco minutos depois que o diretor desapareceu da tela, ainda não havia nenhum sinal dele, nenhum sinal da punição que tinha prometido. Dez minutos depois, os prisioneiros de Furnace deram vazão à sensação de invencibilidade, correndo pela prisão e procurando por câmeras de segurança ocultas, para berrar insultos ao diretor. Alguns chegavam a mostrar o traseiro a ele, ou urinavam sob os olhos negros da rocha, e eu não podia fazer nada senão rir, enquanto o imaginava sentado em seus aposentos sentindo-se efetivamente uma latrina.
E, pelo que dava para ouvir, esse era o menor dos problemas dele. Quando passamos a trabalhar novamente nas portas do elevador, um dos Caveiras veio correndo do túnel, a espingarda pendurada ao lado do corpo.
— Ei, chefe, é melhor ouvir isto. — Ele tossiu, fazendo um gesto com a arma para o local de onde tinha vindo.
Zê e eu seguimos Bodie até o túnel, que ia dar na sala de controle destroçada, o ruído de fragmentos de rocha sob os pés mascarando os sons mais abaixo, até ficarmos ao lado das portas do elevador destruído.
— Espere um momento — pediu o Caveira que tinha ido chamar Bodie. — Não é alto, mas...
Então ouvimos. Um estampido abafado de algum lugar bem abaixo de nossos pés. Foi seguido por vários outros, como se uma criança brincasse com plástico-bolha. Achei também ter ouvido alguma outra coisa, um uivo profundo que arrepiou minha espinha, embora não pudesse afirmar se havia sido real ou apenas imaginação.
— O que você acha que está acontecendo? — perguntou Zê, inclinando-se sobre o que restara da cabine do elevador. — Parecem tiros de canhão.
— Em quem estão atirando lá embaixo? — indagou Bodie. — Só se for um no outro...
— Em Gary — respondi.
— O quê? — perguntou um dos Caveiras. — Está se referindo a Gary Owens?
Concordei com a cabeça.
— Pensamos que estivesse morto — disse Bodie.
— Ele foi capturado — expliquei. — Na mesma ocasião em que Zê e eu fomos, quando saímos do rio. O diretor o transformou em um terno-preto, só que... ele se tornou outra coisa, algo pior. — Tentei me lembrar do que o diretor o havia chamado... um viking.
— Ficou pior do que ele era aqui em cima? — perguntou Bodie, dando um assobio. — Isso é o que chamo de algo realmente ruim.
Esperei que uma nova série de disparos acabasse de irromper lá embaixo, antes de continuar a falar sobre Gary, o monstro que se tornara e como eu o libertara da jaula para combater os ternos-pretos. Eu o vira derrubar seis ou mais guardas armados sem parar um segundo sequer para tomar fôlego. Se ainda estivesse vagando pelos túneis, o diretor teria qualquer tipo de plano interrompido durante algum tempo.
E, se Gary estivesse solto, nada o impediria de libertar outros prisioneiros e de soltar os ratos. Talvez o clima de revolução houvesse de algum modo encontrado caminho até as entranhas da prisão. Nem os ratos seriam tão inconscientes a ponto de não reconhecer o cheiro da liberdade se o sentissem.
— Acha que ele se lembra o suficiente para conseguir chegar até aqui? — perguntou Bodie. Senti o sangue correr mais rápido nas veias ao imaginar Gary subindo pelo fosso do elevador, irrompendo prisão adentro. Nada deteria seu desejo de matar.
— Vamos torcer para que não — foi tudo o que consegui dizer.
— E se ele conseguir? — acrescentou Zê. — Temos que nos certificar de que estaremos bem longe daqui.
Quando voltamos para o pátio, Simon e um robusto Cinquenta e Nove golpeavam de novo as portas do elevador principal, o som das picaretas atingindo o aço e provocando dor em meus ouvidos. O objetivo deles era muito melhor do que o meu havia sido: uma série de pancadas concentradas em torno da estreita linha onde as portas se encontravam. Quando me aproximei, pude notar que o metal começava a ceder, cada golpe implacável separando as portas um pouco mais.
— Bom trabalho — comentou Bodie. — Um pouquinho mais, e poderemos enfiar algo entre as portas para abri-las.
— Um pouquinho mais, e terão que tirar antes meu cadáver do caminho — disse Simon, desferindo outra forte pancada. Ele me entregou a picareta. — Pronto, agora é sua vez.
— Pois não, senhor Rojo-Flores — respondi, arrancando a ferramenta das mãos dele e ignorando-o quando levantou o dedo do meio. — Afinal, o que significa esse nome?
— Literalmente, significa: “Assassino daqueles que me enchem o saco” — replicou ele. — Portanto, preste atenção...
— Quer dizer “flores vermelhas” — corrigiu Zê, provocando uma onda coletiva de risos, Simon incluído nela. Ele resmungava alegremente quando saiu do caminho, deixando-me uma clara trilha de golpes nas portas. Bodie pegou o outro machado do Caveira, e esperei que golpeasse enquanto endireitava os ombros e relaxava os músculos. Dessa vez, não colocaria toda a força no golpe. Em vez disso, me concentraria em meu objetivo. A picareta fez contato com o aço a alguns centímetros do centro, o impacto ainda fustigante, mas não o suficiente para deslocar meus braços.
Enquanto Bodie golpeava de novo, corri o olhar pela prisão, observando os prisioneiros em movimento. A maioria nos observava, os demais percorrendo as várias salas e celas em busca de algo útil. Pelo menos, não estavam tentando matar uns aos outros.
— Por favor, não se apresse, Alex — falou Bodie. — Não temos um prazo a cumprir, ou algo assim.
Murmurei um pedido de desculpas, arremessando de novo a picareta contra a porta e sorrindo de satisfação quando, ao atingi-la, provoquei uma pequena abertura no metal. Bodie mirou o mesmo lugar e o atingiu com um grito de triunfo. Errei os dois golpes seguintes, mas ele não perdia nenhum, a abertura relutantemente se expandindo pouco a pouco a cada impacto estridente.
Entretanto, foi um golpe meu que enfim atingiu o objetivo. Com um gemido de esforço, lancei a picareta bem no interior da abertura que se formava, a ponta da ferramenta deslizando entre as duas portas com tanta força que ficou presa lá. Tentei puxar a picareta, mas Bodie me deteve.
— Afaste-se — ele falou, empurrando-me dali e agarrando o cabo da picareta. Em vez de puxá-la, apoiou um pé na porta e a girou, usando-a como alavanca. Houve um protesto furioso de engrenagens atrás da parede quando as portas começaram a se separar, cedendo um ou dois centímetros. Bodie fez uma careta, sussurrando uma ordem entredentes enquanto se esforçava para manter as portas abertas. — Coloque uma escora ali.
Zê foi o primeiro a reagir, agarrando outra das picaretas e enfiando o cabo no espaço que se abrira, na parte inferior do elevador. Bodie relaxou, arquejando, embora também sorrindo, diante da fenda que agora separava as duas portas. Houve uma série de gritos animados e palmas por parte do grupo de garotos ao lado do elevador.
— Quem quer fazer as honras? — perguntou ele, recuando. Caminhei até as portas, aproximando o rosto do espaço entre elas, tentando me concentrar na penumbra lá dentro. Era impossível perceber qualquer detalhe através de um espaço tão pequeno, mas tinha certeza de que olhava para as lisas paredes de metal da cabine, e não para uma rocha de acabamento rústico.
— Está embaixo — falei, provocando outra série de manifestações vocais. — Está bem aqui.
— Bem, não vamos deixá-lo esperando por muito mais tempo! — replicou Simon, escolhendo uma picareta e assumindo o posto ao la-do das portas. Ele desferiu um golpe na pequena abertura e a alavancou da mesma maneira que Bodie havia feito, obrigando o elevador a ceder outro centímetro. Dessa vez, Zê estava pronto, segurando uma parte da estrutura de aço de um dos beliches que haviam sido atirados no pátio. Assim que as portas se abriram o suficiente, enfiou a barra entre elas, permitindo que Simon puxasse a picareta. O mecanismo protestou com um rangido, mas a escora se manteve no lugar.
— Mais um pouco e conseguiremos entrar — constatou Bodie, deslizando a mão entre as portas do elevador com um gesto nervoso, como para se garantir de que a abertura não era uma ilusão. Foi quando a retirou que o ouvimos: um ruído parecido ao de um distante motor a jato decolando, o som ecoando pela fenda do elevador. Todos nós recuamos assustados.
— Devem estar içando-o para cima — alguém sugeriu, mas fiz que não com a cabeça.
— Não, não é o elevador — acrescentou Zê, antes que eu pudesse abrir a boca. — É outra coisa.
O som ecoou de novo, dessa vez me lembrando os rosnados e gritos que ouvimos se elevar dos níveis inferiores. Talvez houvesse uma interligação entre esses espaços, por correntes de ar ou algo assim. Talvez fosse de fato o mesmo ruído que ouvíamos agora.
Só que este era mais alto, um rugido que me fez lembrar de dragões. E, definitivamente, vinha de cima de nós.
— Deixe pra lá — disse Bodie. — Não significa nada. Talvez os ternos-pretos lá de cima queiram apenas nos assustar, você sabe.
Zê se encaminhou para a abertura entre as portas, espreitando à luz fraca lá dentro.
— Vocês não se perguntaram até agora por que o elevador não foi puxado lá pra cima? — indagou ele. — Com certeza, esta seria a primeira providência do diretor: impedir nossa entrada nele.
— Talvez não seja possível operá-lo lá de baixo — sugeri. — Afinal, explodimos a sala de controle.
— E daí? — exclamou Bodie.
— Mesmo que o diretor não possa fazer nada — prosseguiu Zê, ignorando o Caveira —, quem quer que esteja de guarda no Forte Negro ainda deve ser capaz de operá-lo. Não entendo por que não o içaram para cima, tirando-o do nosso alcance.
— Como eu disse — interrompeu Bodie, empurrando Zê com delicadeza para fora do caminho e erguendo de novo a picareta —, esqueçam isso. O fato é que o elevador está aqui embaixo e, quanto mais tempo gastarmos falando besteira, maior a probabilidade de que o puxem para cima.
Ele golpeou a picareta entre as portas e se inclinou contra o cabo, Simon adicionando o peso de seu corpo ao esforço. Os gemidos de ambos quase se equiparavam ao volume do guincho estridente do metal, e a abertura se ampliou mais um pouquinho. Alguém correu para a frente com um assento de privada na mão, empurrando-a entre as portas e fixando-a com firmeza no lugar. Assim que recuamos, pudemos ver o interior do elevador, nosso passe de saída ali na frente, banhado em uma trêmula luz amarelada.
— Agarre desse lado — gritou Bodie, segurando uma das portas do elevador e puxando com força, lançando todo o peso do corpo contra ela, para tentar manter o metal naquela posição. Simon se juntou a ele, os dois garotos como uma equipe de cabo de guerra nos últimos espasmos de uma batalha. Movi-me para o outro lado, posicionando os dedos no metal frio. O Cinquenta e Nove grandalhão se colocou abaixo de mim, e juntos demos tudo o que tínhamos.
Era como tentar empurrar um caminhão montanha acima, as portas se recusando a se mover com teimosia algo além de um milímetro a cada investida. Mas não há muita coisa que possa resistir a um grupo de prisioneiros com o sonho da liberdade diante de si, e aqueles milímetros não demoraram a se somar. Empurrávamos com todo o resto de força que nos sobrara, sem parar para enxugar o suor dos olhos ou esfregar as costas devido à câimbra.
Quando as portas se abriram mais ou menos um metro, um dos Caveiras enfiou outro pedaço quebrado do beliche entre elas. Usou a força do próprio corpo contra a barra de aço, inserindo-a na diagonal e forçando-a depois para a horizontal, ganhando assim mais alguns centímetros.
— Pronto — falou, voltando-se para Bodie com o polegar levantado.
Ouviu-se um clique dentro da cabine, e em seguida o ruído de algo girando — como uma furadeira elétrica. Percebi tarde demais do que se tratava.
A metralhadora no teto do elevador cuspiu uma explosão de tiros, e observei o Caveira evaporar. Uma série invisível de balas perfurou o que restava de seu corpo atravessado no pátio, arrancando pedaços de rocha do chão e enfim arremessando-o na fogueira como um punho de força descomunal. A saraivada destruiu a barra de metal que mantinha as portas abertas e, com um rangido áspero, elas se fecharam. Apenas o assento da privada as impedia de se cerrarem por completo, e, através da abertura, pude ver o cano giratório da arma se deter, sopros preguiçosos de fumaça saindo espiralados dos buracos.
Bodie foi o único a se mover; dirigiu-se à fogueira, chamando o Caveira com um lamento insistente, mas, mal tinha dado alguns passos, percebeu que aquele esforço era inútil. O cadáver já era devorado por chamas famintas. Ele olhou para os sulcos escavados no chão do pátio, o sangue empoçando nas conchas rochosas da superfície como pequenos lagos de pesadelo.
Eu me afastei, temeroso de que, se olhasse por muito tempo, aquilo acabasse me enlouquecendo. Em vez disso, pousei o olhar em Zê, caído contra a parede ao lado das portas, tão pálido que era quase possível enxergar através dele. Levantou a cabeça, as chamas refletindo nos olhos marejados como gotas de óleo mergulhadas na água. Suas palavras tiveram de ser cuspidas através do nó na garganta:
— Agora sabemos por que deixaram o elevador aqui embaixo.
AMALDIÇOADO
Pareceu se passar uma eternidade antes que qualquer um se lembrasse de como se mover. Toda a prisão era um mausoléu, nem mesmo um sussurro ousando romper o silêncio. Por fim, Bodie ergueu o olhar do chão destruído, pousando-o mais uma vez na fogueira que se tornara uma pira fúnebre para seu amigo, depois desviando-o para nós. Seu rosto se contorceu ao tentar encontrar a expressão certa, metamorfoseando-se com tanta inconstância entre caretas de tristeza, medo e raiva que algo parecia estar rastejando sob sua pele. Inclinou-se para mim, e, por um momento, vi um brilho assassino em seus olhos, como se me considerasse responsável pelo que havia acontecido, ou como se desejasse responsabilizar o que tinha à mão de mais próximo a um terno-preto. Para meu alívio, passou direto por mim e deu um soco nas portas do elevador, engolindo todas as emoções em um suspiro engasgado antes de voltar a olhar para o pátio.
— E agora? — perguntou com voz trêmula, mas num tom firme.
— Isso não devia ter... — murmurou Zê. — Quer dizer, a resposta armada estava desligada e, com a sala de controle do jeito que está, não vejo como conseguiram fazê-la funcionar de novo.
— Pelos aposentos do diretor — falei. — Ele deve ter um sistema de comando particular.
— Não — respondeu Zê balançando a cabeça. — Se fosse assim, por que as outras metralhadoras não foram acionadas? Não faz o menor sentido, a menos que... — Fez uma pausa para reflexão, ignorando os apelos de todos que o cercavam. — A metralhadora do elevador deve operar em um circuito diferente. Deve estar programada para disparar automaticamente se a porta for aberta à força. — Ele praguejou, batendo a cabeça contra a parede.
— Você pode consertar isso, certo? — perguntou Bodie. — Da mesma forma que resolveu a questão das portas antes?
— De jeito nenhum — foi a resposta brusca de Zê. — Para fazer isso, teria que entrar na cabine ou, mais provavelmente, chegar aos controles lá no alto. Cristo, como pudemos ser tão burros a ponto de achar que seria simples assim abrir as portas?
Bodie se virou para mim, e todos no pátio seguiram a direção de seu olhar, minha pele se arrepiando com a força da expectativa deles.
— Eu... não sei — sussurrei. — O elevador é a única maneira de chegar lá em cima. Temos que encontrar um modo de entrar nele.
— Talvez você queira se oferecer como voluntário — cortou ele.
— Podemos fazer um escudo ou algo parecido — acrescentou Simon. — De metal. Com um dos balcões da cozinha, quem sabe?
— Você viu a maneira como a metralhadora destruiu a barra de aço — respondeu Zê. — E destruiu a rocha. Deve ser, no mínimo, calibre 50. Vai destroçar qualquer coisa e levar junto o que estiver perto dela.
Bodie recuou, aquele vislumbre de brilho assassino escurecendo seus olhos. Passou a andar, o corpo tenso como um elástico esticado. Tentei pensar em outro plano, qualquer coisa que pudesse nos tirar dali, mas minha mente estava tão intransponível quanto a porta de uma cela. Não havia nada nela senão uma crescente percepção de impotência. Apenas para preencher o silêncio, proferi algumas palavras sem sentido:
— Talvez valha a pena uma tentativa. Se pudermos nos esconder atrás de algo até entrarmos no elevador, quem sabe a gente não consiga desativar a metralhadora? Não sei...
— E ver outra pessoa morrer? — perguntou Bodie.
— Honestamente, você achou que sairíamos daqui sem sacrifícios? — cortei, minha paciência também se esgotando. — Acha que não perdi amigos aqui? Todos perdemos. Mas é preciso lidar com isso e ir em frente. Podemos chorar por eles quando estivermos fora daqui.
Apontei para cima, recuando quando Bodie veio em minha direção. Ele plantou suas mãos no meu peito e me empurrou com força, antes de se dirigir ao centro do pátio. Eu o segui com o olhar, depois me virei para os Caveiras.
— O que foi? — perguntei. Eles se entreolharam de um modo nervoso, até que um deles encontrou coragem para falar.
— Era o irmão dele — o Caveira me disse. Senti o coração sair do peito, e afundei os pés no chão, pretendendo me enterrar em um buraco. Bodie estava muito próximo das chamas, e mesmo àquela distância pude ver seu corpo se sacudir com os soluços. Queria me aproximar, dizer algo que o fizesse se sentir melhor. Tinha visto tanta gente morrer desde que chegara a Furnace, garotos que haviam se tornado meus irmãos. Mas perder alguém do próprio sangue... não poderia sequer imaginar como era.
— Deixe-o sozinho — aconselhou Simon. — Não há nada que você possa fazer. A melhor coisa a fazer no plano para o momento é descobrir um jeito de entrar naquele elevador.
— Como assim? — perguntei. — Como faremos para entrar lá?
Simon não respondeu. Ninguém respondeu. E eu não tinha ideia de que estava prestes a descobrir da pior maneira possível; não tinha ideia de que a resposta viria na forma do pesadelo mais aterrorizante que a Penitenciária de Furnace havia infligido a seus prisioneiros.
— Algum progresso por aí?
Dez minutos depois da morte do irmão de Bodie, eu estava agachado próximo à parede, ao lado das portas do elevador, estudando a planta da prisão aberta diante de mim como se não soubesse que aquilo era inútil. As linhas brancas eram como grupos de raízes, e fiquei observando-as, no aguardo de que brotassem do papel amassado, à espera do surgimento de uma nova rota de fuga. Mas tudo o que via ali era o fosso do elevador principal, que conduzia à superfície. Tudo o mais encontrava-se soterrado nas profundezas rochosas, inclusive nós.
— Alex, algum progresso? — repetiu Simon, inclinando-se sobre mim e examinando ele próprio a planta.
Balancei a cabeça, voltando os olhos turvos para o pátio. Os Caveiras e os Cinquenta e Nove confabulavam ali perto, soltando sussurros abafados. Esperava que tivessem mais ideias do que eu. Um ronco do estômago de Zê minutos atrás o lembrou de sua fome, impelindo-o, descontrolado, para a sala do cocho em busca de restos. Bodie não havia se afastado da fogueira ainda; permanecia tão imóvel que parecia o contorno de um túmulo delineado contra o sol que se punha.
— Ainda insisto que a ideia do escudo é a melhor que já tivemos — prosseguiu Simon, passando a mão enorme sobre as portas do elevador, mas tomando o cuidado de permanecer longe do espaço aberto. — Podemos usar lençóis para amarrar três ou quatro balcões de cozinha. Isso pode diminuir o estrago durante os poucos segundos de que precisamos para entrar lá.
— A metralhadora gira — respondi, sem de fato escutar direito minhas palavras. — Não dá para se proteger se ela atira em todas as direções.
— Então vamos explodi-la — insistiu ele.
— E correr o risco de fechar a única saída deste lugar? Ora, Simon.
— Tudo o que estou dizendo é que é melhor pensarmos em alguma coisa, e bem depressa — disse ele. Achei que fosse, dizer-me que o diretor e os ternos-pretos poderiam subir a qualquer momento, mas em vez disso acenou com a cabeça em direção aos membros das gangues. Olhei para cima, de repente nervoso diante da maneira como nos encaravam.
— Não fariam isso — falei.
— Não vejo que alternativa eles têm — murmurou Simon.
Apoiei-me na parede e me levantei, encaminhando-me rumo ao amontoado de garotos sussurrantes. Eles caíram em silêncio quando me aproximei, olhando-me com uma estranha mescla de ansiedade e determinação.
— Pensaram em alguma coisa? — perguntei.
— Ainda estamos organizando as ideias — retrucou um deles, lançando-me um olhar de desprezo. — Por que você e seu amigo não esperam ao lado do elevador? Estaremos com vocês em um minuto.
— Isso não vai melhorar a situação de vocês — respondi furioso, os braços de repente tensos junto ao tronco. — Acham mesmo que o diretor não vai puni-los se tiverem nos matado? Vocês sabem como ele é, do que é capaz. Ele vai esfolá-los vivos pelo que fizeram com os ternos-pretos.
— Ah, e você acha que ficar sentado aqui com o traseiro na mão vai ser melhor? — indagou um dos Caveiras. Começaram a se dispersar, o grupo se abrindo como uma garra pronta para me arrebatar. — Não há saída para a superfície, cara.
— É melhor ficar vivo aqui do que morrer tentando dar o fora — falou um dos Cinquenta e Nove. — Não sou mártir.
Levantei as mãos, pronto para o ataque deles. Não era o que eu desejava, mas agora era páreo para aqueles garotos, contanto que o resto da prisão não decidisse ficar ao lado deles. A adrenalina começou a pulsar em minhas veias, carregando o néctar com ela. A escuridão dentro de mim pareceu se iluminar diante da ideia de um combate, enevoando minha visão com um véu vermelho e me fazendo cerrar tão forte os punhos que era capaz de sentir as unhas perfurando a pele. O grupo de garotos se entreolhava, nervoso, mas continuava a avançar.
— Pegue o pequeno — falou o Caveira que havia se manifestado primeiro, fazendo um aceno na direção da sala do cocho. Dessa vez, a onda de néctar que pulsou pela minha cabeça me fez rosnar, um som trovejante que petrificou os garotos.
Pelo que deve ter sido um minuto ficamos ali, paralisados, tensos, como duas represas em lados opostos prestes a se romper. Só quando o ruído de estática invadiu a prisão é que recuamos, os Caveiras dando um passo para trás ao olharem o monitor de vídeo rachado acima das portas do elevador se acender. O logotipo branco de Furnace flutuou preguiçosamente sobre o fundo preto, como se esperasse que toda a prisão se reunisse, e depois se dividiu para revelar uma face.
De início, não o reconheci. O diretor estava tão pálido, tão exausto, que a máscara de carne parecia ter se separado dos ossos sob ela. Os olhos ainda eram poços negros que prometiam o sofrimento eterno, mas agora oscilavam da luz para a escuridão, como se a energia que os alimentava estivesse se esgotando. Os hematomas tinham se alastrado para o nariz e as maçãs do rosto, e havia um fino traço de sangue escuro lhe descendo pelas narinas. A língua percorria o lábio superior como se experimentasse o fluido escuro, e, ao sorrir, este manchou seus dentes.
— Vamos matá-los — gritou o Caveira, antes que o diretor tivesse chance de falar. A câmera sob a tela ainda soltava fumaça, mas ele devia ter outras voltadas para nós, porque as palavras o fizeram rir, um sussurro seco que era mais um suspiro se esvaindo. Em algum lugar atrás dele, transmitido no pátio através de alto-falantes ocultos, ouvimos um tiro de espingarda. O ruído pareceu assustar o diretor, os poços negros de escuridão se tornando apenas olhos por uma fração de segundo, antes de mais uma vez penetrarem em sombras infinitas.
— Tarde demais — falou ele. Mais tiros sendo disparados ao fundo. — Eu lhes pedi uma coisa simples. Disse-lhes que me trouxessem os traidores, para que pudéssemos esquecer todo este caos lamentável. Eu lhes prometi leniência, até mesmo misericórdia.
— Matem-nos — ordenou o Caveira, mas ninguém no pátio se moveu. A visão do diretor em estado tão frágil havia nos hipnotizado, como coelhos seduzidos por faróis.
— Estava disposto a perdoar os crimes de vocês, a deixá-los viver sem receber uma punição — ele prosseguiu, passando a mão no rosto quando o fio de sangue de repente passou a correr como um rio. — Mas vocês escolheram seguir outro caminho.
Pensei ter ouvido outro ruído na tela, o som de metal colidindo com a rocha. Entretanto, quando o volume aumentou, percebi que era algo caindo pelo fosso do elevador. Houve um tinido ressoante quando aquilo atingiu o teto da cabine, o ambiente pouco a pouco caindo em silêncio. Olhei para Simon, que se afastava cautelosamente das portas. Acima dele, assomando sobre nós como um gigante, o diretor tornou a abrir os lábios.
— Fizeram sua escolha — disse, através daquele seu sorriso sem alma. — É tarde demais para voltar atrás. O momento do perdão e da redenção está acabado. Sim, fizeram uma escolha, e agora terão que conviver com ela. Não que algum de vocês vá sobreviver a esta noite.
Um murmúrio de terror percorreu o pátio, ecoando pelas paredes. Pelo menos foi o que achei, até que o ruído surgiu de novo, o mesmo som áspero que tinha ouvido minutos antes. Estava mais próximo agora, um rangido bestial pontuado apenas pelo tinido de mais metal caindo no teto do elevador. Dessa vez, todos nós recuamos, cambaleantes.
— Não há saída da Penitenciária de Furnace — falou o diretor, enfatizando cada palavra. — Porque eu assistiria um a um morrer aqui, antes que pusessem o pé para fora desta prisão. Haverá mais criminosos para encher as celas, mais garotos para tomar o lugar de vocês. A vida continuará exatamente como era antes. Quanto a vocês — ele fez uma pausa, como se também pudesse ouvir os sons brutais do fosso do elevador —, o tempo acabou.
Houve uma série de ruídos ensurdecedores bem acima de nossa cabeça, fazendo as paredes rochosas vibrar e enviando uma cortina de poeira espiralada que saía da penumbra. O som era como o de explosivos sendo detonados, os ruídos abafados pela rocha maciça. Mas, bem dentro de mim, sabia que a fonte do ruído era algo mais potente que dinamite. Fosse o que fosse, o que o diretor nos enviava não seria nem de longe a misericórdia do fogo.
Era algo grande, algo vivo, caindo depressa. Lembrei-me das palavras que tinha ouvido ao telefone nos aposentos do diretor, aquela promessa inacreditável.
Estou indo aí para pegar vocês.
O diretor pareceu ler minha mente, e, como tantas vezes antes, senti os olhos dele penetrar os meus, dedos imundos cutucando meu cérebro.
— Alfredo Furnace manda lembranças — ele disse, os olhos tão escuros, os lábios tão retorcidos que seu rosto era o próprio retrato de uma caveira. — Deixe que lhes apresente os vikings.
Ouvi um ruído de abalar os ossos vindo do fosso, poderoso o suficiente para abrir uma profunda fenda na rocha. A tela se agitou, o sorriso do diretor se dividindo em um milhão de cacos de vidro que se espalharam pelo pátio. As portas do elevador se estufaram, como se feitas de borracha, uma nuvem de fumaça e centelhas de destroços ocultando o que havia por trás.
Mas, depois de dissipado o nevoeiro, pelo espaço aberto na porta, captei um vislumbre de algo certamente muito grande e muito rápido para um ser vivo, batendo, golpeando, uivando.
Embora a tela tivesse se apagado, os alto-falantes deviam ter permanecido em funcionamento, porque a voz do diretor gritava para nós como a de um fantasma:
— Que Deus tenha misericórdia da alma de vocês. Porque eu não terei.
Com um ruído ensurdecedor, o pátio ficou escuro, o brilho mortiço do fogo se esforçando para conter a penumbra sem fim. Então, com uma explosão, as lâmpadas da vigília sangrenta foram acesas, tingindo o ambiente de uma espessa luz avermelhada. E, acima do som de milhares de gritos em pânico, chegou o riso insano e aterrorizante do diretor — um grito de batalha assustador que amaldiçoava a todos nós.
VIKINGS
Mal tive tempo para me mover, e a criatura já forçava sua saída através das portas do elevador com tal força que elas foram arrancadas da parede, rodopiando sobre o pátio como se fossem diminutas lâminas. Abaixei-me para evitar ser atingido por uma delas, vendo-a passar por sobre a fogueira e seguir girando na direção de um conjunto de celas.
Não queria olhar; não queria ver o que emergiria da obscuridade do interior do elevador arruinado, mas, quando um urro infernal invadiu o ar quente, o mais genuíno terror me fez relancear o olhar para aquele local.
Mesmo depois de tudo o que havia visto, de todos os horrores da Penitenciária de Furnace, não conseguia acreditar em meus próprios olhos.
A criatura que se encontrava ali era tão grande que teve que empreender um esforço supremo para sair da gigantesca cabine do elevador, os longos membros tão negros e rígidos como os de um inseto, o tronco como o de uma árvore antiga retorcida e nodosa pela influência do tempo. Parecia vestir uma mortalha de escuridão, uma nuvem de veneno que fazia meus olhos arder só de olhar para ela. Mas eu não conseguia piscar; não conseguia desviar o olhar, nem mesmo quando uma vasta mandíbula se abriu em sua cabeça e emitiu aquele mesmo grito terrível pelo pátio.
No entanto, não foi aquilo que me encheu de terror. Foram as duas fendas de luz prateada flamejante incrustadas de modo bizarro sobre a boca, examinando a prisão com uma inteligência fria e calculada, fazendo-me saber de imediato que um dia tinha sido humana.
A criatura se deteve, cada fibra do corpo furioso dando a impressão de se expandir, até ficar tão alta quanto eu. Os braços aracnídeos se flexionaram, o excesso de articulações fazendo-as parecer quebradas em uma dezena de lugares. Mas não havia como negar o poder da criatura, quando ela bateu os pulsos contra o chão, abrindo dois sulcos na rocha.
Depois, usando os quatro membros, impeliu-se em uma corrida, atravessando o pátio tão rápida e pesadamente quanto um trem de carga. Lançou-se sem piedade contra um grupo de prisioneiros que gritavam, as garras sendo foices a cortar carne e ossos com tanta destreza que pareciam fatiar camadas de ar. A carnificina era tão veloz, tão incansável, que a cena era surreal — era como assistir a um filme. Só quando Simon correu, agarrando-me o braço, é que meu cérebro saiu do transe, o horror me inundando com um solavanco repentino de realidade, fazendo o coração quase sair pela boca.
— Vamos! — ele gritou, arrastando-me com ele.
Um garoto com uma bandana dos Caveiras veio cambaleante em nossa direção, quase caindo na pressa de escapulir pátio afora, rumo à entrada da sala do cocho. Quase todos os prisioneiros se dirigiam para o mesmo lugar, uma dispersão de corpos desgovernados e braços se acotovelando. Todos os olhos estavam cravados ora na besta atrás de nós, ora no caminho à frente, até que outro grunhido irrompeu do elevador.
— Oh, não — falei, as palavras não sendo nem mesmo um sussurro, tal o medo que sentia ao deixarem minha boca. Contra todos os instintos, olhei por sobre o ombro e avistei uma forma assustadora sair de um rombo no teto do elevador. Esta era tão flácida quanto a outra era resistente, a carne de um rosa pálido parecendo mingau, pendendo em pregas sobre o corpo acocorado. Mas ela se movia com a mesma rapidez, e irrompeu pátio adentro com suas enormes quatro patas, vindo em nossa direção.
— Você já têm em mente o último desejo antes de morrer? — gritou Simon, os dedos ainda apertados em torno do meu macacão. — Vamos!
Não havia como superar a criatura, mas, felizmente para nós, algo desviou sua atenção. Os três Caveiras que se encontravam dentro da porta da abóbada emergiram, o semblante fechado e as espingardas se erguendo em uníssono. O primeiro disparou antes de conseguir mirar, a série de tiros abrangendo um campo amplo e fazendo a besta cambalear, tombando para trás.
O Caveira largou a arma fumegante, recuando, mas os outros dois dispararam mais uma série ao mesmo tempo. A carne molenga da criatura tremeu com a força do impacto, uma bolha de sangue negro irrompendo no tronco, porém os tiros nem de longe reduziram sua agilidade. Ela continuou em alta velocidade na direção deles, a enorme criatura engolfando os dois garotos. Virei-me antes de poder ver o desfecho, mas o som de carne retalhada vibrou por um bom tempo em minha cabeça.
Havia um engarrafamento de pessoas fora da sala do cocho, os prisioneiros subindo uns nos outros enquanto lutavam para entrar pela estreita passagem. Arrisquei outro olhar para trás quando nos juntamos à multidão, vendo a primeira besta ainda destruindo os prisioneiros na extremidade mais distante do pátio, e a segunda correndo desajeitadamente, passando a língua grossa no chão úmido, o corpo enorme estremecendo como se estivesse deliciado.
— Vamos! — Simon berrou para mim, empurrando um grupo de garotos menores para tentar chegar à frente do grupo. Aquilo já durava uma eternidade. Não havia como sobrevivermos por tempo suficiente se uma das bestas se dirigisse para lá.
— Vamos subir! — gritei, separando-me de Simon e me dirigindo à escada mais próxima. As plataformas acima de nós estavam vibrantes de movimento, os garotos indo aos tropeços para os locais onde esperavam obter segurança. Juntamo-nos a eles, vencendo os degraus de metal o mais rápido possível, até alcançar o quarto nível. Da plataforma estreita tínhamos uma visão geral do pesadelo lá embaixo, as duas criaturas momentaneamente distraídas das presas pela fogueira que ainda ardia no meio do pátio.
— O que são essas coisas? — sussurrou Simon. — Nunca vi nada assim lá embaixo. Parecem...
Ele hesitou, incapaz de encontrar algum elemento para fazer uma comparação. Também fui incapaz de achar um. Sim, o diretor havia me transformado em um terno-preto, e os outros garotos em criaturas estranhas, mas nem mesmo Gary, com seu corpo deformado e suas garras manchadas de sangue, assemelhava-se a essas monstruosidades.
— Vikings — falei, repetindo o nome que o diretor lhes dera. — Pertencem a Alfredo Furnace.
— Como sabe disso? — perguntou Simon.
— Gary — foi minha resposta. — Ele também está se tornando um deles. O diretor me disse, e me mostrou. Ele não sabe direito o que essas criaturas são; sabe apenas para o que servem. São máquinas de matar, os doentios bichos de estimação de Furnace. — De repente, me dei conta do que dizia; descobri então por que as bestas estavam ali. — Você também ouviu a voz dele ao telefone. Furnace enviou esses monstros por causa do que fizemos. É tudo nossa culpa, Simon.
A besta de membros aracnídeos se entediara com as chamas. Andando agora apenas sobre as duas pernas, movimentava-se pelo pátio em passos longos e saltitantes que me lembraram um pouco o dos Ofegantes. De início, não conseguir perceber o que acontecia, mas depois vi dois vultos agachados dentro de uma cela aberta. O viking soltou um ruído agudo, muito parecido com um riso, e agarrou as grades, arrancando-as da parede em uma chuva de fragmentos rochosos e poeira.
— Temos que fazer alguma coisa — falei.
— Nem pensar — respondeu Simon, a voz tomada pelo medo. — Nem pensar mesmo, cara. Agora a gente vai ficar aqui e esperar até... até...
Observei o semblante dele murchar ao perceber que não chegaria ajuda. Ele tinha ouvido o diretor com tanta clareza quanto eu. Todos em Furnace pagariam o preço por nossa tentativa de encontrar a liberdade. Aquelas criaturas obedeciam às ordens de Alfredo Furnace. Não iriam embora até que a última coisa viva no complexo da prisão parasse de respirar; até que todos fôssemos executados.
— Alex — ele começou baixinho —, se você for lá, vai morrer. Sei que é forte, mas essas coisas... — A movimentação no pátio abaixo terminava a sentença por ele, os vikings atormentando os prisioneiros como gatos brincando com ratos. Observei durante algum tempo, a visão revirando meu estômago e fazendo a cabeça latejar; depois me voltei de novo para Simon, a tempo de vê-lo tocando algo no bolso. Ele captou meu olhar, puxando a mão vazia e apoiando-a na grade de proteção.
— O que é que você tem aí no bolso? — perguntei, lembrando-me de ele ter furtado algo dos aposentos do diretor. — Uma lâmina?
Ele balançou a cabeça. Depois, percebendo que eu não estava disposto a desistir, tirou o objeto do macacão e o mostrou. Só de olhá-lo meu corpo pareceu se inflamar, tão quente que tive de verificar para ter certeza de que não ardia em chamas. Era como se o néctar que corria dentro de mim clamasse pelo que Simon tinha nas mãos; como se gritasse por aquilo.
— Não sabia o que ia acontecer com você — ele falou, a seringa escura tremendo em sua mão hesitante, os pontos prateados lá dentro girando como estrelas em um céu distante. — Como eu disse, Alex... Às vezes, se você é despojado do néctar com muita rapidez, o corpo simplesmente se decompõe. Imaginei que, se tivéssemos um pouco dele, aí... você sabe.
Abaixo de nós, outro urro assustador invadiu o pátio, seguido por um coro de fracos lamentos humanos que me deixou irritado. Os últimos em meio à multidão espremiam-se para entrar na sala do cocho, mas não foram rápidos o bastante. A besta gorda e molenga se arrastou muito depressa na direção deles, as dobras de pele flácida dançando à luz da fogueira. Vi a boca grotesca aberta, embora sem lábios, ainda assim sorrindo.
Sabia o que devia fazer.
— Dê isso aqui — falei, estendendo o braço. Simon hesitou, agarrando forte a agulha, como se ela fosse a boca de uma cobra venenosa.
— Se tomar isso, não há como saber o que vai acontecer com você — ele replicou. — Outra dose do néctar, e pode não ter mais volta. Você corre o risco de se tornar um terno-preto para sempre.
— Não importa — respondi. — Se eu não tomar, nenhum de nós vai conseguir sair daqui.
Simon hesitou, e outro uivo desesperado veio lá de baixo, interrompido pelo ruído de uma dentada que fez meu estômago revirar de novo. Então ele concordou com a cabeça, tirando a tampa da seringa e agarrando meu pulso com a outra mão. Ergui a manga do macacão, a mente confusa demais, apavorada demais para realmente extrair sentido do que acontecia. Aquilo era um erro — o veneno do diretor faria de tudo para me transformar mais uma vez em um soldado de Furnace. Talvez fosse mais fácil entregar minha cabeça a ele em uma bandeja de prata.
Senti a picada na carne e, olhando para baixo, senti as veias pulsando e a escuridão me tomando por dentro com um calor frio.
— Não esqueça seu nome — avisou Simon, esperando o êmbolo descer até o final antes de extrair a agulha. — Alex Sawyer, não se esqueça. Estarei aqui aguardando sua volta.
Ele continuou falando, mas eu já não o escutava. Era como se alguém tivesse me atirado em um lago negro, o mundo de repente inacreditavelmente escuro e silencioso. Tudo o que conseguia era ouvir minha respiração e sentir o trabalho do néctar ao percorrer o caminho através do meu sistema. Meus músculos ficaram tensos, a pressão dos meus dedos tão forte sobre a grade de proteção que o metal entortou. Mas ainda não era suficiente; ao me voltar para o pátio, o espectro do medo ainda assomava no fundo de minha mente.
— Bata em mim — pedi a Simon. O garoto à minha frente pareceu se encolher, a expressão tomada pelo terror, como se eu fosse outra das bestas lá embaixo. Repeti o pedido, dessa vez em um ruído gutural mais adequado para um demônio. Simon ergueu a mão e lançou a palma aberta contra meu peito. A dor fluiu através de mim, carregando com ela uma raiva tão intensa que minha mente consciente pareceu estar sendo soterrada na lama, trancafiada para sempre. Urrei na direção do garoto, levantando o punho para revidar o golpe, mas me controlei antes que fosse tarde demais. — De novo!
Ele ergueu a mão trêmula e me bateu com mais força ainda, o bastante para me fazer balançar. Dessa vez, o néctar penetrou em meu cérebro tal qual chumbo derretido, expulsando tudo dali, exceto minha fúria. Abri a boca e gritei, o som tão forte que chegou a obscurecer a sinfonia de morte lá embaixo.
Preparei-me para atacar o garoto, para puni-lo por me bater, mas ele já havia desaparecido. Então, olhei para o pátio, procurando vítimas, buscando qualquer coisa para descarregar minha ira. Os prisioneiros estavam ali, o medo tornando-os seres patéticos, e meu primeiro desejo foi me lançar sobre eles e lhes arrancar membro por membro como uma punição por sua fraqueza.
Mas algo me deteve; um sussurro indecifrável de um lugar profundo em minha cabeça. Esse instinto obrigou meus olhos a se afastar daquele formigueiro de gente fraca e se dirigir às duas bestas que se arrastavam pelo pátio. Então, como se aquele sussurro segurasse as rédeas de minha raiva e agora as tivesse soltado, senti o néctar assumir o controle.
Com um urro que fez todas as cabeças na prisão se virar em minha direção, saltei por sobre a grade de proteção e me lancei à batalha.
FIM DE JOGO
Estava quatro andares acima, mas nem senti o impacto ao aterrissar no pátio, uma série de fendas se abrindo na rocha sob meus pés. E logo já me movimentava, antes mesmo que tomasse conhecimento desse fato, atravessando com tanta agilidade a espessa luz avermelhada que fui capaz de sentir o vento em meu rosto, denso e cálido, embebido em um odor de sangue.
O viking gordo havia alcançado a multidão fora da sala do cocho, que diminuíra consideravelmente, abatendo os garotos como se fossem pinos de boliche. Por um instante, achei que tivesse o elemento surpresa a meu favor, o monstro ocupado demais envolvendo os dedos sangrentos e gotejantes ao redor de corpos retorcidos para perceber minha presença. Mas algum tipo de instinto deve tê-lo advertido, porque, quando eu estava pronto para lhe arremessar uma pedra, de repente a criatura se virou.
Bem de perto, deu para ver em detalhes como ela era. O corpo não era gordo como eu havia suposto, mas tão estufado com músculos que a pele pendia flácida, com sobras inúteis. Ela era maior que eu, a carne trêmula de repente se solidificando no que me pareceu um pilar de rocha sólida. A vasta caverna que era sua boca se abriu, mais uma vez como a versão horripilante de um sorriso, e pude ver dentro dela um esôfago vermelho e ferido. Acima, como pedras perdidas, havia um conjunto de olhos escuros, numerosos demais para ser contados.
Não dei ao medo uma chance sequer de se instalar dentro de mim; só baixei a cabeça e deixei a raiva tomar conta. Em uma fração de segundo, estava sobre a besta, esquivando-me de seu punho da consistência de um obelisco e golpeando-lhe o tronco. Foi como atingir um rolo compressor, a densidade daquele corpo fazendo-me expulsar o ar dos pulmões. Mas funcionou: desequilibrei o viking, e ambos rolamos pelo pátio com o impacto.
Paramos ao bater contra a parede, a criatura em cima de mim, imobilizando-me como um animal morto sob a roda de um caminhão. Ela levantou o braço, a mão repleta de calombos, do tamanho de uma bigorna, descendo sobre minha cabeça. Tentei desviar, inclinando-a para o lado, e senti uma explosão quando o solavanco deixou uma cratera na rocha, a milímetros de minha orelha.
Ela tornou a erguer os braços antes que eu pudesse recuperar o fôlego, mas não lhe dei chance de me golpear, desferindo-lhe um soco na garganta e sentindo o cordão rígido da traqueia alojado bem no interior do músculo. Desferi um segundo soco, um terceiro, e outros mais, cada um deles fazendo a criatura recuar um pouco, até todo o seu volume tombar sobre minhas pernas. Ergui os braços em defesa e o atingi duramente no estômago, apenas para sentir uma explosão de agonia por ter dilacerado um nervo do pulso.
Afastei-me. Havia algo alojado entre os nós dos meus dedos, um espinho longo e retorcido que parecia ser um pedaço de osso. Recuei, observando horrorizado enquanto a pele da criatura se franzia, dezenas de pontas brancas despontando como se fossem pelos. Ela se sacudiu como um cachorro molhado faria para se livrar da água, farpas saindo dos ombros e das costas, e até mesmo do alto da cabeça. Então, com os minúsculos olhos negros brilhando, ela atacou.
Baixei a cabeça quando a criatura arremeteu seu punho, lascas de rocha detonando da parede atrás de mim e chegando até o elevador. Quando corri, percebi o primeiro viking ainda se banqueteando com algo no extremo oposto do pátio, mas me observando através das fendas prateadas. Ele atirou a refeição ao chão e esticou as longas pernas, farejando o ar.
Não esperei para ver o que faria em seguida, derrapando ao me deter e examinar os destroços das portas do elevador até encontrar o que procurava. Mal havia conseguido erguer a picareta quando o viking me alcançou, as articulações letais fatiando o ar diante do meu rosto.
Com um rugido de desafio, brandi a picareta, visando as pernas do monstro — o único lugar livre de espinhos. A ponta da ferramenta atingiu uma delas acima do joelho, penetrando no músculo com um estalo úmido. Todo o corpo da criatura tremeu, a vibração arrancando a arma de minha mão. Ela cambaleou, mas não caiu, os olhos piscando fora das órbitas como se examinassem o objeto que lhe penetrara a perna.
Fazia menção de erguer outra picareta dos detritos a meus pés, quando o mundo de repente desmoronou. Foi como se um buraco negro tivesse se aberto em plena prisão, obrigando tudo a girar em uma órbita desarticulada. Só quando atingi o chão, tropeçando nos fragmentos de rocha, percebi o que havia acontecido. O viking versão escaravelho atravessara o pátio a toda velocidade, golpeando-me com força suficiente para me fazer voar.
Tentei me levantar, sentindo algo deslocado e quebrado dentro de mim. Através de minha visão deficiente, consegui discernir duas criaturas bloqueando meu caminho, adornando ambos os lados da fogueira antes de estreitar fileiras.
Levante-se!, gritei para mim mesmo, insatisfeito com minha fraqueza. O néctar fervilhava, curando as feridas internas que, do contrário, teriam sido fatais. E pareceu reagir a meu chamado, liberando uma explosão de energia que me impeliu do chão como se eu fosse uma marionete controlada por mãos nervosas.
Percebi que ainda tinha a picareta em mãos, e a arremessei com toda a força que possuía. Foi um golpe de sorte, pois a lâmina curva atingiu o viking aracnídeo em seu crânio negro metálico. Ouviu-se uma explosão como a de fogos de artifício, e a criatura se encolheu, rolando desajeitadamente para a frente, agitando os longos membros enquanto tentava retirar a ferramenta.
A outra criatura, no entanto, não reduziu a velocidade, avançando com tanta rapidez que o corpo carnudo mais parecia um borrão cor-de-rosa. Olhei ao redor, procurando algo com que pudesse me defender, mas não havia nada, o pátio quase deserto de pessoas e objetos.
Corri, o chão vibrando sob meus pés, enquanto o viking ganhava terreno. Não havia mais aonde ir, exceto para cima, e com um grunhido de esforço impulsionei o corpo rumo à plataforma do segundo nível. A potência do salto fez minha cabeça girar, a vertigem quase me fazendo perder a concentração. Mas, sentindo a resistência da gravidade, estendi os braços e agarrei a grade de proteção, saltando para a plataforma.
Um olhar por sobre o ombro revelou-me a besta a meio salto, a pele flácida se agitando como asas de um morcego rosado. Agachei-me, depois me lancei ao ar, alcançando a plataforma do terceiro nível. Abaixo de mim, o viking se arremessou rumo à grade de proteção, a estrutura de metal rangendo com seu peso. Ele prosseguiu com a perseguição, as mãos repletas de espinhos arrancando fragmentos de rocha da parede ao subir.
Dei um impulso para alcançar a plataforma, depois corri ao longo de uma dezena de celas vazias até atingir a escada. O viking continuava a caçada, a plataforma balançando conforme o monstro avançava. Subi um lance em duas passadas, atingindo o próximo quase sem esforço. O corpo da criatura lhe causava problemas nos degraus estreitos, mas ela não desistia, os espinhos arranhando o aço a cada contato.
Eu continuava correndo e subindo, e atingi o quinto nível, depois o sexto, em seguida o sétimo. O néctar era como nitroglicerina, transformando meu coração, pulmões e músculos em uma máquina que não protestou nem uma única vez, nem mesmo quando escalei o décimo segundo nível e percorri o caminho rumo à plataforma. Lá em cima era rançoso, o ambiente jamais habitado, e o pátio lá embaixo tão pequeno quanto um playground. Não havia sinal dos prisioneiros, mas o outro viking ainda estava lá embaixo, o corpo metalizado parecendo mais do que nunca o de um escaravelho ao se contorcer e se agitar em uma poça crescente de sangue escuro.
Ouvi um rosnado vindo da escadaria, as cavilhas quase se desprendendo das paredes enquanto a criatura gorda se arrastava pela plataforma. Mantendo os quatro membros no chão, ela se aproximava de mim, a mandíbula aberta ainda mais escura do que a penumbra que cobria os níveis mais altos.
Relanceei o olhar para a cela mais próxima, mas não havia sequer um beliche que pudesse usar como arma. Então olhei para a porta, para as grades de aço, e me lembrei da maneira como os ternos-pretos costumavam entortá-las, como se fossem borracha. Agarrei a parte de cima de uma delas e puxei com força, o metal protestando com um guincho. O viking percebeu minha intenção e apressou o passo, um tornado de músculos cor-de-rosa explodindo em minha direção.
A grade rangeu, mas foi um lamento de rendição, pois o metal se inclinou e partiu. Eu a puxei, flexionando-a para a frente e para trás até se desprender da estrutura. Segurei aquela extensão de aço sólido com dois metros de comprimento como um bastão de beisebol, ficando em posição de lançamento enquanto o viking se movia com rapidez pela plataforma.
Quando estava dentro da linha de alcance, arremeti a grade para a frente, direcionando-a para a cabeça dele. A criatura foi rápida, erguendo uma das mãos para se proteger, mas o impacto da arma de metal foi muito grande, e o ruído de um osso se quebrando reverberou por toda a prisão. Ela urrou, fazendo jorrar sobre mim sua saliva quente, depois se lançou para a frente com a boca aberta. Recuei, sua mandíbula se fechando em torno da grade e mordendo a ponta como se fosse um pirulito. A outra mão desceu em um golpe violento, as farpas em gancho rasgando meu tronco.
Mesmo sob efeito do néctar, a dor foi terrível, minha visão se tornando nublada por completo. Ignorei o mal-estar, enfiando a grade fundo em sua garganta, como se espetasse um peixe. O viking recuou, engasgado, e então puxei a grade, enfiando-a de novo dentro do ninho de olhos negros.
Ele entrou em pânico, oscilando desajeitadamente e golpeando às cegas com o braço bom. Levantei-me usando a grade como apoio, e lancei meu porrete improvisado sobre sua cabeça. Ele a atingiu com força suficiente para que o metal se curvasse, embora o viking ainda resistisse. Aliás, debatia-se selvagemente, sapateando como se se preparasse para reagir.
Algo explodiu da parede, a rocha se abrindo e a plataforma se inclinando. Deixei a grade cair, agarrando a grade de proteção e observando minha arma descer em uma graciosa espiral até o pátio, doze andares abaixo. O viking cambaleou, avançando para a grade de proteção, e depois se apoiou na plataforma com o punho farpado, tentando voltar a ficar de pé.
Outra cavilha cedeu sob a pressão, soltando-se da rocha. Em seguida, a plataforma cedeu, levando com ela o viking e eu. Meu estômago revirou, as entranhas quase explodindo cérebro afora enquanto eu assistia a dois níveis passar voando, depois cinco... sete... numa queda cada vez mais veloz.
As plataformas estavam suficientemente próximas para ser tocadas, e tentei me agarrar a uma delas, embora meu braço quase tenha sido arrancado do ombro. No entanto, o tranco deve ter reduzido minha velocidade, porque ao fazer nova tentativa estendendo o braço, de algum modo consegui colocar meu cotovelo ao redor de uma das grades de proteção. Meu corpo colidiu contra o metal, quase arrancando outro conjunto de cavilhas da parede. Mas ele aguentou.
Olhando para baixo, vi a plataforma solta atingir o pátio apenas dois ou três níveis abaixo, o viking seguindo-a um milésimo de segundo mais tarde. Foi como se tivesse explodido em carne e osso, o corpo se espatifando em um lago de sangue negro que sibilou furiosamente ao respingar na fogueira. Larguei a grade de proteção e me joguei no chão, sentindo como se cada articulação do corpo estivesse quebrada.
Os dois vikings se encontravam lá embaixo, e quase fui capaz de ver o néctar dentro deles reparando os corpos feridos. A besta com corpo de escaravelho ainda tentava arrancar a picareta da cabeça, ocupada demais para prestar atenção à minha presença. A outra já começava a se recompor. Podia ver os ossos se movendo sob a pele, reacomodando-se, e sabia que era apenas questão de tempo antes de a besta voltar ao combate.
— Alex! — ouvi alguém chamar, e de alguma maneira me pareceu familiar aquele garoto que saía a toda velocidade da sala do cocho, lutando para se agarrar a algo. Fora eu, ele era a única pessoa viva em todo o pátio. — Use isto!
Corri para me encontrar com ele, ouvindo o som horroroso de carne remexida atrás de mim quando o viking enfim conseguiu arrancar a ferramenta do crânio retorcido. Os olhos do garoto se arregalaram ao passar por mim, e ele tropeçou, detendo-se por um instante. Ele deve ter visto algo demoníaco em meus olhos, pois atirou o objeto no chão antes que eu o alcançasse, voltando apressado para a cantina. O cilindro rolou, cheio do gás que havia causado tantos danos anteriormente.
Eu o peguei, virando-me para deparar com o viking aracnídeo saltando em minha direção. Metade de sua cabeça havia sido arrancada, mas o único olho prateado remanescente me encarava com fúria incontida. Suas garras captavam a luz do fogo como cacos de obsidiana, levantadas e prontas para o ataque.
Mas não lhe dei essa chance.
Agarrando o bujão pela válvula estreita, corri para o viking, esperando até o último momento possível para balançá-lo. O pesado cilindro atingiu a criatura no lado bom da cabeça, provocando uma erupção de matéria negra na ferida da picareta. Suas pernas se transformaram em barbante, e a besta caiu ao chão, se contorcendo.
Não me detive sequer por um segundo, o impulso praticamente me empurrando para a outra besta. Esta só tinha pedaços de pernas para se apoiar, mas não mostrou nenhum sinal de fraqueza — os braços se enrijeceram, e os espinhos se eriçaram enquanto estudava minha aproximação. De algum modo, ela conseguiu reagir, a mandíbula gotejante tornando-se inacreditavelmente imensa, pronta para me engolir inteiro.
Enfiei o bujão em sua garganta com toda a força que eu tinha. A criatura entrou em choque, tentando vomitar e ao mesmo tempo expelir o tanque de metal. Ignorando os espinhos, enfrentei a criatura, erguendo-a e correndo em direção à fogueira. Não pude enxergar direito por onde caminhava, mas sentia o calor queimando minha pele. Esperei o máximo que pude antes de arremessar o viking às chamas.
A criatura desapareceu na pira agitando os braços, os longos gritos se tornando uma lamúria patética. Recuei, levantando as mãos para proteger o rosto da intensidade das labaredas. Havia me afastado apenas alguns passos quando o bujão explodiu, a onda de choque tomando a prisão como um tsunami de calor e carne dilacerada.
Olhei por entre a fumaça, já esperando o ataque do outro viking. Mas ele já se retirava rumo ao elevador. Forçou o corpo porta adentro, olhando para trás uma única vez com uma fenda refletindo um puro ódio prateado, e depois desapareceu pelo buraco no teto.
Como coelhos amedrontados nas tocas, os prisioneiros começaram a emergir das salas para o pátio. Um deles — o mesmo garoto que me dera o bujão — correu em minha direção, mas o néctar dentro de mim ainda fluía com fúria, e o detive com um resmungo gutural. Ele me encarou; todos me encaravam agora, os olhos arregalados e boquiabertos.
Sentia o veneno do diretor me impelindo a atacar, estimulando-me a terminar o trabalho que os vikings haviam iniciado. Afinal, eu também era um soldado de Furnace. Era meu dever obedecer ao diretor; obedecer ao néctar. E isso seria muito fácil, pois as figuras diante de mim eram apenas insetos perante minha ira. O pensamento tornou a trazer aquela nuvem de fúria, e eu já estava atacando, antes mesmo de saber direito o que fazia.
Então a voz sussurrante se manifestou, vinda dos recônditos mais profundos de minha mente: Você é Alex Sawyer. Você é um deles. Você é Alex Sawyer. Você é um deles. O mantra mal era audível, mas foi repetido incessantemente, até preencher minha cabeça.
Tampei os ouvidos com as mãos e uivei para tentar calar a voz, porém ela não desistiu, impondo-se ao néctar e intrometendo-se em minha raiva, em minha escuridão.
Você é Alex Sawyer. Você é um deles. Você é Alex Sawyer. Você é um deles.
Os dois lados de minha mente travavam uma guerra tão feroz quanto a que eu próprio havia travado segundos atrás, o conflito ameaçando partir ao meio minha alma. Eu era Alex Sawyer, mas ao mesmo tempo não era. Jamais voltaria a ser aquele garoto de novo. Eu não era ele, tampouco era um terno-preto. Não era humano, tampouco forte o bastante para ser qualquer outra coisa. Não era nada. Não era nada.
Corri para a escada, dirigindo-me aos níveis superiores, pronto para a única coisa que poria fim de uma vez por todas à loucura dentro de minha mente.
A ÚNICA SAÍDA
Mal olhava por onde andava, concentrando-me apenas o suficiente para não cair da escada. Atrás de mim, no pátio, podia ouvir pessoas chamando um nome, meu nome, me dizendo para esperar, mas não escutava nada. A dor na cabeça era demais para suportar, o néctar e a voz como granadas de artilharia disparando um contra o outro no meu campo de batalha mental.
Agora eu sabia como escapar; havia achado uma maneira de fugir de Furnace. Alguns segundos de queda livre, e depois o esquecimento, a liberdade. Tinha de acabar logo com isso, porque não havia como saber o que eu me tornaria ou o que eu faria.
Não sei bem o que me deteve. Atingi o alto de um conjunto de degraus e olhei para a plataforma, a visão sendo a mesma que em todos os outros níveis, mas de algum modo diferente. Olhei para o pátio lá embaixo, agora repleto de garotos vestidos com macacões brancos, e percebi que estava quatro andares acima. Algo me fez largar a grade de proteção e caminhar pela plataforma, até parar diante de uma cela.
Não havia nada lá dentro, exceto um beliche e uma privada, e, com uma guerra acirrada ainda sendo travada dentro da mente, entrei e me sentei no colchão de baixo, a estrutura cedendo sob meu peso. Meus olhos percorreram o minúsculo aposento, vendo as marcas de unhas na parede, sentindo o odor residual de gás que escapava do lençol, olhando para fora das grades — uma visão de certa maneira familiar.
Aquela havia sido minha cela; já fazia tanto tempo que parecia ter sido em outra existência.
O néctar fazia o máximo para bloquear as lembranças, transformando-as em fios espiralados de fumaça. Mas estar ali deu força à voz, e, cada vez que ela se manifestava —Você é Alex Sawyer. Você é um deles —, o veneno do diretor cedia um pouco mais à pressão.
Vi um rosto despencar do colchão de cima, abrindo um sorriso tão amplo que a cela se encheu de luz.
Ainda está aqui?, perguntou Donovan, a alucinação tremulando como um filme de um projetor danificado. O néctar explodiu na garganta, carregando com ele outro grunhido animal, mas não possuía nada da força de antes. Fechei os olhos, o sorriso de Donovan gravado em minhas retinas como a luz do sol. Atrás de seu brilho eu avistava a cela, repleta de garotos — D, Zê, Toby e eu —, rindo enquanto escondíamos as luvas cheias de gás sob o colchão; enquanto planejávamos nossa fuga; enquanto conversávamos sobre os planos quando estivéssemos lá fora.
Não me esqueci daquele hambúrguer, disse Donovan. É melhor você comê-lo por mim, garoto.
— Farei isso — falei, as palavras expulsando os últimos vestígios de veneno do meu sistema. — Prometo.
Abri os olhos. O rosto de Donovan havia se dissipado no ar fino, mas havia dois garotos de pé, nervosos, à entrada da cela, imersos na luz avermelhada. Zê deu um passo à frente, mas Simon o puxou para trás, os olhos desconfiados jamais abandonando os meus. Sorri para eles, fazendo o máximo para que o sorriso não parecesse a careta de um terno-preto.
— Está tudo bem — falei. — Não vou morder ninguém.
Dessa vez, os dois garotos se precipitaram para dentro, Simon se sentando no colchão a meu lado e apalpando com delicadeza as feridas abertas no meu tronco, já seladas com sangue coagulado. Zê ficou de pé ao lado da parede, enxugando uma lágrima do olho. Abriu a boca, mas era como se um milhão de coisas diferentes tentassem sair ao mesmo tempo, as palavras confusas parecendo mais soluços que sentenças. Deteve-se por um instante, respirou fundo e tentou novamente:
— Você está bem? — Ele esperou que eu acenasse com a cabeça em afirmação, depois prosseguiu: — Cara, isso foi incrível. Você dominou totalmente aquelas coisas.
— Quando você fez aquele gorducho explodir — completou Simon —, foi genial.
— É... E obrigado pelo gás — agradeci a Zê.
— Não foi nada — ele respondeu. — Mas achei que fosse me matar. Seus olhos pareciam os de um terno-preto. Você parecia realmente irritado.
— Era o néctar — expliquei. — Simon me injetou outra dose. Era a única alternativa.
Zê fez menção de dizer algo, mas foi interrompido pelo coro de gritos no pátio lá embaixo. Levantei da cama de um salto, saindo da cela e me dirigindo à grade de proteção, rezando para que o viking não tivesse reaparecido. Os prisioneiros haviam se reunido em torno das portas do elevador, os gritos mais de excitação que de medo.
— Acho que devemos ver o que estão aprontando lá — disse Zê, andando para a escada.
— Achei que você fosse pular — comentou Simon, antes que eu começasse a segui-lo. — Como conseguiu combater o néctar? O que o trouxe de volta?
Olhei para a cela, para o beliche de cima. Ele estava vazio, os lençóis rasgados, mas ainda conseguia ver Donovan ali, as pernas pendendo e balançando, observando-nos com um sorriso triste.
— Vamos — falei, virando-me antes que o nó na garganta se dissolvesse em lágrimas. — Ainda não saímos da prisão.
Achei que demoraria um pouco para passarmos pela multidão, mas, assim que os prisioneiros me viram, recuaram em silêncio, dividindo-se como o mar Vermelho em toda a extensão, até as portas do elevador. Supus que fosse o medo que os tivesse agitado, mas me dei conta de que a maioria sorria, os olhos cheios de assombro, alguns até mesmo murmurando palavras de agradecimento em voz baixa.
Visto de fora, o elevador parecia o caos completo: as portas estavam arrebentadas; o chão, amassado; e havia um buraco no teto. Os vikings tinham se introduzido por um canto da cabine como se ela fosse de papel-alumínio. Haviam arrancado a metralhadora do local onde fora montada e a transformado no pouco reconhecível pedaço de metal que agora jazia esquecido contra a parede ao fundo.
Através da fenda aberta, vi o fosso do elevador se estender rumo ao infinito, sem outro sinal de vida além de alguns prisioneiros de pé sobre o teto. Bodie era um deles e, assim que me viu entrar, enfiou a cabeça buraco adentro.
— O que você acha disso? — ele perguntou. — Parece que os animaizinhos de Furnace nos proporcionaram uma rota clara para a liberdade.
— De jeito nenhum — comentou Zê, atrás de mim. — Está brincando?
Simon passou por nós, usando o braço maior para alavancar o corpo para cima. Bodie lhe abriu caminho, fazendo-nos sinal para segui-lo. Agarrei o teto destruído, fazendo o possível para esquecer as dores enquanto me alçava para cima. Ali era tão escuro quanto a solitária, mas meus olhos captaram todos os detalhes em luz prateada — a estrutura de metal que mantinha os contrapesos, os cabos de força e os maciços cabos de tração de aço que conectavam o elevador à superfície.
— Não se esqueçam de mim — gritou Zê, sua voz soando estridente. Enfiei a cabeça no buraco e lhe ofereci a mão, surpreso diante da falta de esforço que era preciso para puxá-lo. Ele soltou um suspiro de surpresa ao se equilibrar. — Jesus, está congelando aqui.
Estava mesmo, e todos sabíamos por quê. Descendo pela fenda de mais ou menos um quilômetro e meio acima de nossa cabeça, vinha uma corrente de ar frio e fresco. Continuamos em silêncio durante mais ou menos um minuto, todos respirando e rindo como se pudéssemos enxergar acima da superfície, além do Forte Negro, o mundo lá fora inundado de chuva.
— Cara, isso é muito legal — disse Bodie. — Você acha que dá para todos nós subirmos por aqui?
— Quem sabe nem seja necessário — comentou Simon. Ele estava de pé sobre as cavilhas reforçadas que conectavam os cabos à cabine. Pelo que pude ver, tudo parecia intacto, os vikings tendo aberto uma passagem bem perto da extremidade do teto. Não que eu entendesse alguma coisa de elevadores. — Não vejo nenhum dano sério.
Antes que qualquer um conseguisse responder, ouvimos uma pancada vinda de cima, o pânico fazendo-nos entrar de novo no buraco com tanta rapidez que quase nos esmagamos. Olhamos para cima, da relativa segurança da cabine, a fonte do ruído ainda desconhecida.
— Como eu disse — repetiu Simon, a pulsação dele tão forte que pude senti-la em sua voz. — Aqueles cabos parecem intactos. O elevador ainda pode funcionar.
— Sim, mas as portas estão em um estado irrecuperável — respondeu Bodie. — Você acha que essa coisa anda sem elas?
— Sem mencionar que os controles ficam lá em cima — acrescentou Zê. — Alguém tem que subir lá primeiro.
— Eu subo.
Tanto Simon quanto eu falamos as mesmas palavras exatamente ao mesmo tempo. Rimos um para o outro, o som se filtrando pelo buraco e ecoando no fosso pelo elevador como se abrisse caminho para a liberdade antes de nós.
— Negativo — falou Zê. — Acham que vão ser os heróis de novo só porque têm músculos? Posso escalar isso tão bem quanto vocês.
— Com esses gravetos que você chama de braços? — replicou Simon. — Você não consegue nem enxergar aonde está indo. Talvez, com sorte, consiga subir cinco metros, quem sabe dez.
— Primeira rodada de batatas fritas lá em cima como eu bato vocês nessa — foi a a resposta. — Não que eu tenha algum dinheiro comigo, é claro.
Dessa vez todos nós rimos, o oxigênio descendo pelo fosso sendo uma droga que nos embriagava. Não nos importávamos com o mau cheiro de poeira e óleo, ou com o fedor do viking que subira para a superfície. Tudo o que conseguíamos sentir era o aroma da liberdade.
— Vamos nós três, então — sugeri, virando-me para Bodie. — Quando chegarmos lá em cima...
— Se chegarmos... — interrompeu Simon.
— Quando chegarmos lá em cima, içamos o elevador. Limpem os destroços que estão em torno das portas e o encham com o máximo de garotos possível. Com um pouco de sorte, podemos levar todos lá para cima em algumas viagens.
— Certo — concordou Bodie. — Se não tivermos notícias de vocês dentro de algumas horas, enviaremos outro grupo.
E não fiquem tão empolgados com a fuga a ponto de esquecerem de apertar o botão, ouviram bem? Estamos contando com vocês aqui embaixo.
Concordei com a cabeça, e fiz menção de subir através do buraco, mas antes me virei e olhei para fora do elevador. O mar de rostos ali reunido me lembrou do dia em que havia chegado ali, a primeira vez que saíra desse mesmo lugar e entrara no pátio. A memória voou para trás, doce-amarga: o medo e a raiva, depois a esperança quando avistei o sorriso de Donovan. Ele havia sido a única razão de eu não ter pulado no primeiro dia, e a única razão de não ter pulado no último. Certa vez, Donovan me dissera que não era meu anjo da guarda, mas era, sim, e mais uma vez me vi sentindo a falta dele como se fosse uma parte de mim.
Pare de ser tão babaca, eu o ouvi dizer. Sabia que era minha imaginação, mas ao mesmo tempo esperava que, se houvesse restado algo dele, estaria participando dessa fuga conosco. Também espero que sim, garoto. E, agora, arraste esse traseiro até a superfície!
— Sim, senhor — respondi baixinho. Dei uma última olhada na Penitenciária de Furnace, ainda iluminada pelas luzes avermelhadas e brasas da fogueira, como se estivesse prestes a se desvanecer. E acho que estava mesmo, com os prisioneiros que mantinham batendo o coração negro da prisão prestes a sair da artéria principal, reduzindo a prisão a uma casca.
Meus olhos deslizaram pelo pátio, passaram pela sala do cocho, pelos chuveiros, pelas salas de escavação, escadas e celas. Cada pedaço de pedra, cada partícula enferrujada de ferro, cada mancha de sombra carregava consigo uma lembrança e uma emoção tão poderosas que deixavam meus pulmões sem ar. Sabia sem sombra de dúvida que jamais veria aquele lugar de novo. Mesmo que fosse preso, morreria antes de voltar.
— Vamos vencê-los — falei, dirigindo-me às paredes, às celas, ao ar e ao diretor, que provavelmente ainda nos observava pelas suas câmeras. — Vamos vencê-los, seus idiotas.
Então, com Bodie e os Caveiras nos desejando sorte e pedindo que não nos esquecêssemos deles, segui Simon e Zê até o teto do elevador, rumo ao fosso frio e escuro.
LÁ FORA
Foi uma subida difícil, mas ao mesmo tempo a coisa mais fácil que já havia feito na vida.
O cabo de aço enterrado em minhas mãos logo ficou escorregadio com o sangue de Simon e Zê acima de mim. Nossos pés escorregavam, o abismo crescente abaixo como a boca de alguma enorme criatura, só aguardando que caíssemos para finalizar o trabalho que outros tinham iniciado tanto tempo atrás. O som áspero de nossa respiração ricocheteava nas paredes rochosas e ecoava em nós novamente, lembrando-nos de nossa exaustão, da tarefa impossível à qual nos submetíamos.
Mas o ar frio não parava de soprar, dando-nos força para prosseguir, e foi assim que, uma mão acima da outra, continuei subindo. Embora a dor nos músculos fosse maior do que qualquer outra coisa que tivesse experimentado, jamais pensei em desistir, porque aquele vento era o fôlego do mundo lá fora, um sussurro incessante que se tornava mais poderoso a cada centímetro, e cuja promessa de liberdade nos fazia sorrir em meio à agonia.
Não trocamos uma palavra sequer, concentrando-nos no cabo como alpinistas profissionais, pressionando o metal grosso com os pés e nos impulsionando para cima, um pouco a cada vez. Tentei ir acompanhando a distância que vencíamos, mas foi uma tentativa inútil, a fenda se estreitando até um ponto invisível em ambas as direções. Embora não tivesse nada de infinito: o fim estava bem acima de nossa cabeça, dentro do alcance. Só cabia a nós chegar até ele.
Simon o viu primeiro, tão esgotado pela subida que as palavras saíram em agrupamentos ininteligíveis. Olhei para cima, os tendões como navalhas em meu pescoço, e vislumbrei um feixe de luz tão suave quanto o amanhecer. A excitação que envolveu meu estômago foi quase suficiente para me fazer despencar, antes de se transformar em uma última explosão de pura adrenalina que nos impulsionou pela parte final do cabo, que guinchava como um louco.
Fiquei aterrorizado ao pensar que poderíamos chegar ao topo e descobrir outro conjunto de portas armadas impossível de transpor. Mas a Penitenciária de Furnace tinha consciência de que estava sendo vencida. Quando estávamos próximos o suficiente, vimos o buraco que o viking que fugira havia aberto no metal. Um dedo de luz branca se estendia através dele, movimentando-se de um lado para outro como se nos acenasse. Naquele segundo, tornamo-nos tão leves quanto os fragmentos de poeira que víamos dançando no calor, o riso como asas que nos atraíam sem esforço para a luz.
A pior parte foi o breve salto do cabo até as portas quebradas. Observei Simon se arremeter, quase perdendo o apoio ao tentar alcançar o aço retorcido, ameaçando cair vertiginosamente na escuridão. Mas ele se recuperou, impulsionando-se através do buraco, e depois reapareceu, os braços estendidos para ajudar um Zê aos berros e descontrolado.
Quando desapareceram pela abertura, eu estava em pleno ar, o fosso sem fundo como uma língua negra estendendo-se para me puxar. Bati nas portas, quase ricocheteando, mas consegui me segurar na beirada do buraco. Não demorou para que as mãos de Simon estivessem ao redor de meus pulsos, içando-me para dentro do Forte Negro.
Pelo que pareceu uma eternidade, ficamos deitados ali naquele chão de pedra polida, a respiração voltando em meio a descontrolados acessos de riso enquanto fitávamos o teto. Não havia sirenes nem gritos de alarme; apenas o ruído suave de luzes elétricas em funcionamento, brilhantes a ponto de nos cegar, após tanto tempo enterrados em Furnace.
Enfim me sentei, vários músculos se contraindo em protesto. Estávamos na sala sem janelas onde havíamos colocado pela primeira vez o uniforme da prisão, os cubículos do chuveiro trancados e silenciosos contra a parede. O portão do outro lado estava entreaberto, e através das grades pensei ter visto manchas de sangue salpicadas pelo corredor à frente. Algo ali produziu uma fagulha, fazendo-nos pular de susto, um pobre espetáculo de fogos de artifício caindo do teto.
— O que será que aconteceu aqui em cima? — perguntou Zê, a voz tornando-se mais alta e baixando de novo, como um rádio mal sintonizado.
— Deve ter sido aquela coisa — respondeu Simon, andando devagar como um ancião e espalmando as mãos feridas no macacão. — É óbvio que você o matou de medo, Alex, porque, pelo jeito, ele passou por aqui com muita pressa.
— Vamos — falei. — Antes que Furnace nos envie mais surpresas.
— Tenho a impressão de que ele deve ter abandonado seu posto de trabalho — replicou Simon, oferecendo uma das mãos a Zê e outra a mim, e colocando-nos de pé.
Ele tinha razão. Se aquele viking tivesse fugido dali, Furnace teria problemas maiores que a fuga de prisioneiros. Imaginei aquela besta solta pela cidade, o dano que causaria, e me vi sorrindo, apesar do horror. Pelo menos o mundo saberia dos experimentos de Furnace; conheceria a verdade sobre a prisão e o que faziam conosco dentro dela.
Embora não houvesse sinal de vida no Forte Negro, esperamos um pouco, um tanto nervosos, os ouvidos atentos ao ruído de armas sendo engatilhadas ou ao riso trovejante de algum terno-preto. Liderei o caminho para o outro lado da sala, através do portão, tentando não olhar para o cadáver do guarda caído como um boneco de pano em uma poça do próprio sangue. Pegadas negras brilhantes, grandes demais para ser de qualquer coisa exceto as de um viking, apontavam-nos a direção da saída. O vento em nosso rosto agora se assemelhava a uma tempestade ártica, impelindo-nos para a frente.
A um canto da sala ficava o buraco por onde havia recebido meu macacão de Furnace, agora tão escuro e silencioso quanto o resto do Forte. Passamos por ele quase sem respirar, entrando em outro corredor sem nenhum outro detalhe além de um portão a um canto e uma porta na extremidade mais distante. Ela estava aberta, e, além dela, estava o mundo lá fora, visível apenas como uma luz pálida muito pura, bonita demais para ser artificial. Fui atraído irresistivelmente em sua direção, mas a mão de Zê em meu braço me puxou para trás.
— Temos que fazer aquele elevador subir — disse-me ele.
Não me movi, cada instinto em meu corpo e mente clamando para que eu corresse já para a saída, antes que os ternos-pretos chegassem, antes que fôssemos atirados de novo fosso abaixo. Mas não podia deixar os outros apodrecendo lá dentro. Assenti com a cabeça, e nós três demos um suspiro em uníssono enquanto nos virávamos e passávamos pelo portão.
O corredor à frente estava repleto de portas fechadas, mas não demoramos muito para encontrar a sala de controle. Ela também estava deserta, a prateleira de armas vazia e o cheiro de pólvora pairando no ar. Não tinha uma ideia exata do que havia acontecido, mas imaginei que os guardas restantes tivessem sido enviados para a captura do viking fugitivo.
Examinei as telas alinhadas na parede, vendo em uma onde se lia “Entregas” um caminhão preto estacionado em um compartimento de carga. O logotipo ao lado do veículo deixava claro que o caminhão pertencia a Alfredo Furnace, e deduzi que tivesse sido usado para transportar os vikings até a prisão. Bem, ele voltaria vazio. Quanto aos ternos-pretos, não vi nenhum em parte alguma.
Corri os olhos pelos monitores, até encontrar o que desejava. O elevador estava totalmente carregado, com centenas de prisioneiros se amontoando dentro.
— Deve ser um destes — falou Zê, passando o dedo por uma série de botões inseridos no painel de controle.
— “Elevador principal”— disse Simon, lendo as letras escritas no painel. — Uau, Zê, você realmente tem miolos.
Zê lhe mostrou o dedo médio e em seguida pressionou o botão marcado com uma seta para cima. Uma vibração percorreu a rocha sob nossos pés, e, em uma das telas, vi a multidão se espremer ainda mais no elevador. A imagem era bem pequena, mas pude ver centelhas voando quando o elevador começou a subir.
— Vamos — sussurrei. — Vamos lá; você consegue fazer isso.
O elevador deu um solavanco, forte o bastante para expulsar alguns prisioneiros, fazendo-os cair no pátio. Depois, em um instante, a cabine ficou fora do campo de visão, a vibração da rocha sob nós não deixando dúvida de que ele estava a caminho. Zê soltou um grito, tornando a nos fazer um gesto obsceno, que, em nosso entusiasmo, Simon e eu ignoramos. Olhamos um para o outro com um sorriso tão amplo que tudo o que víamos eram dentes.
— Estão prontos? — perguntou Zê.
— Nunca estive tão pronto na vida para qualquer outra coisa —respondeu Simon. — Vamos logo, antes que os Caveiras passem por cima de nós.
Juro que flutuamos para fora daquela sala, avançando pelo corredor e passando pelo portão, o corpo tão leve quanto o ar; tão suave quanto nossos sonhos. Só nos demos o direito de respirar ao entrar no salão principal e ver as pesadas portas abertas. Além delas, as grades eletrificadas totalmente arrebentadas. Então cada um de nós expirou como se fosse um só, o suspiro se transformando em exclamações suaves e incontroláveis à medida que caminhávamos rumo à liberdade.
Hesitei ao atingir o limiar, olhando para a linha que separava a pedra polida de Furnace do chão áspero lá de fora, temeroso de olhar para cima, de dar o último passo, no caso de ser tudo uma ilusão. Mas a brisa fria me envolveu e me atraiu para longe da porta, puxando-me noite adentro.
Cambaleei para a frente, acariciado pela chuva leve que caía do céu banhado pela lua. A força havia desaparecido totalmente de minhas pernas, mas ainda havia energia suficiente para me arrastar para fora daquele lugar destruído, antes de cair de joelhos na lama.
Estava fora. Livre. Eu estava livre.
Olhei para cima, ouvindo meus soluços incontidos, vendo o céu infinito através de minhas lágrimas. Passada uma onda de nuvens, consegui enxergar a lua, que nos observava em seu leito de estrelas, tão nítida, tão distante que quase fui tomado por uma vertigem. Pingos de chuva caíam como diamantes, revestindo a paisagem de prata líquida, trazendo vida a cada fragmento de grama, a cada flor, a cada seixo.
Voltei os olhos para o horizonte, a silhueta da cidade realçada por um brilho acobreado, enquanto o amanhecer se preparava para abarcar o mundo. Em algum lugar um pássaro cantava, o som tão estranho para mim que a princípio não compreendi o que ouvia.
Era tudo demais — as visões, os sonhos, o cheiro da chuva, a terra úmida sob meus dedos —, tudo demais para ser real. Não podia ser real. Fechei bem os olhos, sentindo o Universo girar. Então senti uma mão em meu ombro, amparando-me, e me arrisquei a olhar de novo para ver o mundo que achava ter perdido para sempre, ainda banhado em platina e bronze diante de mim.
— Conseguimos — soluçou Zê, ajudando-me a ficar de pé. — Estamos fora da prisão. Não acredito, Alex, estamos fora.
— Fora, mas não seguros — disse Simon. — Ouviram isso?
Levantei a cabeça, rios de água da chuva descendo pela minha garganta, saciando minha sede. Demorei um pouco para reconhecer o som de sirenes, o ruído de hélices do helicóptero, ainda distante, mas cada vez mais alto.
— Agora que estamos fora, não há mais como nos esconder — ponderou Simon. — Não se pode ignorar uma fuga quando os prisioneiros estão nas ruas.
O ruído se misturou a outros sons, de vozes gritando e barulho de pés na superfície rochosa. Viramo-nos e vimos um mar de garotos se aproximando do portão principal, vindo em ondas em nossa direção, o branco dos olhos como a luz do sol refletindo na crista das ondas. Alguns caíam ao chão, esmagados pela existência de um mundo esquecido. Outros passavam voando por nós, eufóricos ao correr para a rua, fluindo para a segurança da penumbra. Avistei algumas bandanas dos Caveiras, mas, entre eles, não vi Bodie. Chamei-o em voz alta.
— Ele está na sala de controle — explicou um dos Cinquenta e Nove, detendo-se por tempo suficiente para inspirar uma grande porção de ar. — Está mandando o elevador de volta para pegar o próximo grupo. Fizemos uma lista, para ninguém ficar para trás. — Ele lançou um olhar nervoso para o interior de Furnace. — Espero que consigam fazer tudo a tempo. Alguém está tentando vir lá de baixo; ouvimos o ruído. É melhor sumirem daqui antes que a chance acabe. — Ele voltou a correr, depois se virou com um sorriso. — Ah, obrigado. — Então se foi, perdido no mar de corpos.
— Ele tem razão — concordou Zê. — Temos que sair daqui. Já fizemos o bastante.
— Temos esse direito — afirmou Simon. — Alguém sabe para onde ir?
Zê e eu sacudimos a cabeça. Com uma fuga de prisão como aquela, toda a cidade logo estaria cercada, cada pedra revirada pela polícia, cada esconderijo vasculhado. Sem mencionar o fato de que o viking estava solto por aí; que o diretor e os ternos-pretos logo se juntariam à caçada; e que os ratos provavelmente também se encaminhavam para a superfície.
Eu não tinha ideia do que aconteceria quando o néctar que havia dentro de mim se esvaísse. Podia até já estar condenado, vivendo um tempo emprestado.
Mas nada daquilo importava. Naquele momento, o importante era que havíamos conseguido. Tínhamos vencido Furnace. Estávamos livres. Dei uma última olhada para trás, para os portões arrebentados do Forte Negro, os túneis escuros que conduziam ao subterrâneo. Foi um vislumbre, mas jamais o esqueceria.
Comecei a me virar, rindo tanto que chegava a doer, e não demorei para captar um relance das esculturas que decoravam as laterais da prisão — monstruosidades de pedra descrevendo garotos como eu sendo punidos por seus crimes. Fechei bem forte os olhos, a mente de volta ao escritório do diretor, vendo as mesmas figuras esculpidas em sua escrivaninha, ouvindo aquela voz do outro lado da linha.
Estou indo aí para pegar vocês.
E, de repente, estava de joelhos de novo, Alfredo Furnace em minha cabeça, as palavras não mais que um sussurro, mas uma tempestade furiosa que expelia sangue do meu nariz, dos meus ouvidos e olhos.
Você me ouviu?, gritava ele. Estou indo aí para pegar vocês.
Obriguei-me a abrir os olhos, a prisão agora um imenso Behemoth** prestes a irromper da terra como uma sanguessuga gigantesca em busca de sua presa. Contra o pano de fundo dessa alucinação, vi outra: uma frota de caminhões, cada um carregando uma criatura uivante sedenta de sangue. E, estimulando-as, havia um homem que não era nada, exceto um vulto contra a escuridão da noite, mas cuja pele parecia ter vida própria, uma vez que havia acabado de sair de um túmulo infestado de vermes.
— Alex! — Mãos em meus ombros tentavam me levantar. Pisquei, a prisão tornando-se apenas a prisão, a visão do exército de Furnace nada além da bile em minha garganta. Olhei para Zê, percebendo sua confusão, e, por um segundo, achei que tudo aquilo tivesse sido um pesadelo produzido pela exaustão. Então me virei para Simon, vendo meu semblante refletido no seu, e soube que ele também tinha visto. Claro que sim, pois havia néctar nele também, o veneno de Furnace correndo através de suas veias, canalizando aquela voz inumana.
— Alex — repetiu Zê. — Jesus, levante-se. Ficou cego?
Ele apontou, e eu segui seu braço, avistando o primeiro dos carros de polícia avançando em velocidade pela estrada, derrapando ao parar diante da horda de prisioneiros amontoados diante dele. Zê puxou meu macacão de novo, e dessa vez reagi, ficando em pé sem muita firmeza.
Em um segundo corríamos, escapulindo pelas ruas da cidade, escorregadias devido à chuva. E, embora tivéssemos a prisão atrás de nós; embora os ternos-pretos estivessem bem longe; embora os braços amorosos do sol nascente nos recebessem em um abraço há muito esquecido, não conseguia tirar da cabeça a imagem de Alfredo Furnace.
Ele estava vindo para nos pegar. Ele nos encontraria.
E, quando nos encontrasse, haveria um inferno inteiro nos aguardando.
** Monstro mitológico referido na Bíblia, no capítulo 40 do livro de Jó. Esse grande herbívoro tem um corpo couraçado e é típico dos desertos. [N. T.]
Alexander Gordon Smith
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















