
A aproximação dos franceses era a grande emergência. Ouvia-se já o contínuo crepitar dos mosquetes nas cercanias da cidade e, nos últimos dez minutos, cinco ou seis canhonaços haviam atingido os telhados das casas situadas no alto da colina da margem norte. A casa dos Savages ficava uns metros mais abaixo na encosta e, por enquanto, encontrava-se protegida do ocasional fogo de canhão dos franceses, mas o cálido ar primaveril zunia com as balas de mosquete perdidas que, por vezes, embatiam nas grossas telhas do telhado, com grandes estalidos, ou irrompiam pela folhagem dos pinheiros, espalhando agulhas pelo jardim. Era uma casa grande, de pedra, pintada de branco e com gelosias verde-escuras nas janelas. O alpendre da frontaria era encimado por uma placa de madeira onde se lia, em letras douradas, House Beautiful. Era um nome estranho para uma casa na íngreme colina donde a cidade do Porto contemplava o rio Douro, particularmente porque a grande casa quadrada não era nada bonita, antes pelo contrário, pesada, feia e angular, embora as suas linhas duras fossem suavizadas por cedros que deviam proporcionar uma sombra bem-vinda no Verão. Um pássaro estava a construir o ninho num dos cedros e, sempre que uma bala de mosquete assobiava por entre os ramos, o pássaro soltava um pio de alarme, esvoaçando pelo ar, para logo retomar a tarefa. Inúmeros fugitivos passavam em frente da casa, descendo a colina a caminho das barcaças e da ponte de barcas que lhes permitiriam atravessar o Douro. Alguns dos refugiados conduziam porcos, ovelhas e vacas, outros empurravam carrinhos de mão precariamente carregados com mobília. Não raros outros carregavam os avós às costas.
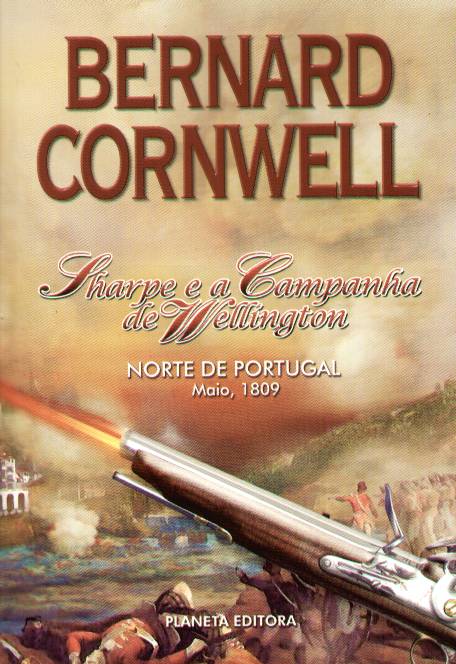
Richard Sharpe, tenente do segundo Batalhão do 95º Regimento de Fuzileiros de Sua Majestade Britânica, desabotoou as calças e urinou para cima dos narcisos de um canteiro de flores em frente da House Beautiful. O chão estava molhado porque houvera um temporal na noite anterior. Os relâmpagos haviam riscado o céu por cima da cidade, os trovões tinham ribombado e chovera tanto que os canteiros de flores, agora, com o calor do sol, vaporosamente se desfaziam da humidade da noite. Uma granada de obus desenhou um arco no céu, soando como um pesado barril a rolar rapidamente num soalho de madeira, deixando um pequeno traço acizentado de fumo, produzido pelo rastilho incandescente. Sharpe observou o rasto do fumo, avaliando, pela curva, onde estaria situado o obus.
- Eles estão muito próximos, raios os partam! - exclamou ele, não se dirigindo a ninguém em particular.
- Vais dar cabo dessas pobres flores, isso é que vais - disse o sargento Harper, acrescentando à pressa, ”meu Tenente”, quando Sharpe se voltou e lhe viu a cara.
A granada do obus explodiu algures no emaranhado de ruelas junto ao rio e, segundos depois, o canhoneio francês aumentou para um trovejar contínuo, um trovejar com um timbre claro, vivo, sincopado, sinal de que algumas das armas se encontravam muito perto. Uma nova bateria, pensou Sharpe. Devia estar instalada à entrada da cidade, a menos de um quilómetro de distância de Sharpe e a fustigar o flanco do grande reduto norte, enquanto o crepitar dos mosquetes que soara como lenha seca a arder se reduzia, agora, a um estralejar intermitente, sugerindo que a infantaria defensora estava a retirar-se. Alguns, em boa verdade, deitavam a fugir e Sharpe não os podia censurar. Uma grande e desorganizada força portuguesa, comandada pelo bispo do Porto, tentava impedir que o exército do marechal Soult tomasse a cidade, a segunda maior de Portugal, mas os franceses estavam a levar a melhor. O trajecto dos portuenses para a segurança passava em frente do jardim da House Beautiful e os soldados do bispo, fardados de azul, açodavam-se colina abaixo, tão depressa quanto as pernas lho permitiam, salvo que, quando viam as fardas verdes dos fuzileiros ingleses, abrandavam, como que a quererem mostrar que não estavam em pânico. E isso, reconheceu Sharpe, era um bom sinal. Era evidente que os portugueses tinham o seu orgulho e tropas com orgulho bater-se-iam bem, se tivessem outra oportunidade, embora nem toda a tropa portuguesa patenteasse o mesmo espírito. Os homens da Ordenança continuavam a correr, mas isso não admirava: A Ordenança era um entusiástico mas mal preparado exército de voluntários, recrutados para defenderem a pátria, e as veteranas tropas francesas estavam a fazê-los em pedaços.
Entretanto, Miss Savage continuava sem aparecer.
O capitão Hogan surgiu no alpendre da House Beautiful. Fechou prudentemente a porta e pôs-se a olhar para o céu, praguejando fluente e incisivamente. Sharpe abotoou as calças e as suas duas dúzias de fuzileiros puseram-se a inspeccionar as armas, como se nunca as tivessem visto. O capitão Hogan expeliu mais algumas imprecações cuidadosamente escolhidas e depois cuspiu, quando uma descarga francesa estrondeou por cima deles.
- O que isto é, Richard - disse ele, quando o som do tiro de canhão passou -, é uma grande confusão. O raio de uma miserável e diabólica confusão, conjugada com uma grande dose de tolice.
A descarga francesa aterrou algures na parte baixa da cidade e precipitou a queda em estilhaços de um tecto em ruínas. O capitão Hogan sacou da sua caixa de rapé e inalou uma boa pitada.
- Deus o salve - disse o sargento Harper. O capitão Hogan espirrou e Harper sorriu.
- O nome dela - disse Hogan, ignorando Harper - é Katherine, ou, melhor, Kate. Kate Savage, de dezanove anos de idade e a precisar, meu Deus, como ela está a precisar de uma boa sova! Uma surra! Um bom par de estaladas, é o que ela precisa, Richard. O raio de uns açoites bem aplicados.
- Mas, afinal, onde é que ela está? - perguntou Sharpe.
- A mãe pensa que ela terá ido para Vila Real de Zedes - disse o capitão Hogan -, seja onde for onde raio isso fica. Mas a família tem lá uma quinta. Um sítio para onde vão para escapar ao calor do Verão - acrescentou, revolvendo os olhos de exaspero.
- Mas Porque é que ela lá foi, meu Capitão? - perguntou o sargento Harper.
- Porque é uma menina de dezanove anos sem pai - disse Hogan -, que tem a mania de fazer o que quer. Porque não se dá bem com a mãe. Porque é um raio de uma parva que merece uns bons pares de tabefes. Porque, oh, eu não sei porquê! Porque é jovem e tem a mania que sabe tudo, eis porquê. - Hogan era um irlandês de meia-idade, baixo e entroncado, dos Royal Engineers, com uma cara perspicaz, a pronúncia doce irlandesa, de cabelo grisalho e de carácter generoso. - Porque é um raio de uma menina tonta, eis porquê - concluiu ele.
- Essa Vila Real qualquer coisa fica muito longe? - perguntou Sharpe. Não podemos ir lá buscá-la?
- Isso, Richard, é exactamente o que eu disse à mãe que você ia fazer. Você vai a Vila Real de Zedes, vai à procura do raio da menina e vai atravessar o rio com ela. Nós vamos esperar por vocês em Vila Nova de Gaia e, se o raio dos franceses tomarem Vila Nova, esperamos por vocês em Coimbra. - Hogan fez uma pausa, enquanto escrevia estas instruções num pedaço de papel. - E, se os Sapos (Frogs, no original. Designação pejorativa dos Ingleses em relação aos Franceses, em virtude destes gostarem de pernas de rãs. [N. do T.]) tomarem Coimbra, esperamos por vocês em Lisboa e, se os sacanas tomarem Lisboa, nós estaremos a mijar nas calças em Londres e vocês estarão sabe Deus onde. Não se apaixone por ela - continuou ele, entregando o pedaço de papel a Sharpe -, não emprenhe a parva da rapariga, não lhe dê a sova que ela bem merece e, por amor de Deus, não a perca e não perca de vista, também, o coronel Christopher. Entendeu tudo?
- O coronel Christopher vai connosco? - perguntou Sharpe, alarmado.
- Não foi o que acabei de lhe dizer? - disse Hogan com um ar inocente,
logo se voltando, ao ouvir um tinir de cascos que anunciava a chegada da carruagem de Mrs. Savage, vinda da cocheira que ficava por detrás da casa. A carruagem vinha abarrotada de bagagem e havia mesmo alguma mobília e dois tapetes enrolados atados na parte de trás do porta-bagagem, onde um cocheiro, precariamente colocado no meio de meia-dúzia de cadeiras douradas, trazia pela arreata a égua preta de Hogan. O capitão pegou nas rédeas e utilizou o estribo da carruagem para se erguer para a sela.
- Você vai juntar-se a nós dentro de dois dias - assegurou ele a Sharpe. Daqui a Vila Real de Zedes são seis, sete horas. Outro tanto até Barca de Avintes e, depois, é um passeio até casa. Você sabe onde fica Barca de Avintes, não sabe?
- Não sei, não.
- Fica para ali - disse Hogan, apontando para leste. - Cerca de seis quilómetros. - Hogan enfiou a bota direita no estribo e ergueu o corpo para soltar as abas do capote azul. - Com um bocado de sorte, pode juntar-se a nós amanhã à noite.
- O que eu não entendo... - começou Sharpe, logo se calando ao ouvir abrir-se a porta da frente, donde surgiu Mrs. Savage, a mãe viúva da filha desaparecida.
Mrs. Savage era uma mulher dos seus quarenta anos, bem-parecida, de cabelo escuro, alta e elegante, com uma cara clara e de sobrancelhas arqueadas. Descia ela os degraus da entrada quando uma bala de canhão troou sobre a casa e, logo depois, soou uma descarga de tiros de mosquete alarmantemente perto, tão perto que Sharpe subiu os degraus do alpendre para observar o alto da colina, onde a estrada de Braga desaparecia entre uma grande taverna e uma igreja elegante. Um canhão de seis libras português acabara de se instalar junto da igreja e começara a disparar contra o inimigo invisível. As forças do bispo haviam cavado novas trincheiras no cimo da colina e protegido à pressa a velha parede medieval com uma paliçada coberta de terra, mas a visão do pequeno canhão a disparar da improvisada posição no meio da estrada dava a ideia de que essa defesa ia sucumbir bem depressa.
Mrs. Savage choramingava que tinha perdido a sua menina, mas o capitão Hogan conseguiu convencê-la a entrar na carruagem. Duas criadas, ajoujadas de malas atulhadas de roupa, seguiram a patroa para dentro do veículo.
- Vai encontrar a minha Kate? - perguntou Mrs. Savage ao capitão Hogan, abrindo a porta da carruagem.
- A sua querida menina estará junto de si muito em breve - disse Hogan, em tom confiante. - O tenente Sharpe vai tratar disso - acrescentou ele, fechando a porta da carruagem com o pé.
Mrs. Savage era a viúva de um dos muitos negociantes ingleses estabelecidos na cidade do Porto. Era rica, supunha Sharpe, pelo menos suficientemente rica para ter uma bela carruagem e a petulante House Beautiful, mas era também louca, pois devia ter deixado a cidade dois ou três dias antes. Ficara, obviamente, porque acreditara na garantia do bispo de que conseguia repelir o exército do marechal Soult. O coronel Christopher que, em tempos, ficara alojado na estranhamente designada House Beautiful, pedira às forças inglesas, estacionadas a sul do rio, para enviarem homens para escoltar a partida de Mrs. Savage. Como o capitão Hogan era o oficial mais próximo da cidade e Sharpe, com os seus fuzileiros, andava a proteger Hogan, enquanto o engenheiro elaborava o mapa do Norte de Portugal, fora ele que atravessara o Douro para norte, com vinte e quatro dos seus homens, precisamente para escoltar Mrs. Savage e quaisquer outros habitantes ingleses do Porto. O que teria sido uma tarefa bastante fácil, não fora o caso de, manhã cedo, a viúva Savage ter descoberto que a filha fugira de casa.
- O que eu continuo sem perceber - insistiu Sharpe - é porque é que ela fugiu.
- Possivelmente, porque está apaixonada - sugeriu Hogan, com um sorriso. - As jovens de dezanove anos, de famílias respeitáveis, são muito dadas a apaixonarem-se, por causa dos romances que lêem. Até daqui a dois dias, Sharpe, ou talvez mesmo até amanhã. Espere só pelo coronel Christopher, ele vem já ter consigo. E oiça - Hogan dobrou-se todo na sela e baixou a voz, por forma a que só Sharpe o pudesse ouvir - não largue o coronel de vista, Richard. Eu ando preocupado com ele, isso é que ando.
- Devia preocupar-se era comigo, meu Capitão.
- Também me preocupo, Richard, palavra que me preocupo - disse Hogan.
Depois endireitou-se na sela, acenou com a mão e esporeou a montada atrás da carruagem de Mrs. Savage, a qual atravessava já o portão da entrada, juntando-se à corrente de refugiados que se dirigiam ao Douro.
O som do rodado da carruagem esvaneceu-se. O Sol apareceu por trás de uma nuvem, no preciso momento em que uma bala de canhão francesa atingiu uma árvore no alto da colina, explodindo numa nuvem de flores avermelhadas que voaram por sobre a íngreme encosta da cidade. Daniel Hagman mirou as flores esvoaçantes.
- Parece um casamento - disse ele e, depois, olhando para cima, quando uma bala de mosquete ricocheteou numa telha, tirou uma tesoura da algibeira. - Damos um corte no seu cabelo, meu Tenente?
- Vamos a isso - disse Sharpe, sentando-se num dos degraus do alpendre e tirando o quépi.
O sargento Harper certificou-se de que as sentinelas estavam a postos, vigiando o lado norte. Um grupo de cavalaria portuguesa surgira no cimo da colina onde o único canhão disparava com bravura. Um crepitar de mosquetes indiciava que alguma infantaria ainda se batia, mas havia cada vez mais soldados a passarem em retirada em frente da casa e Sharpe sabia que o completo colapso das defesas da cidade era uma questão de minutos. Hagman começou a cortar o cabelo de Sharpe.
- O meu Tenente não gosta do cabelo por cima das orelhas, pois não?
- Não, eu gosto dele curto, Dan.
- Curto como um bom sermão, meu Tenente - disse Hagman. - Agora fique quieto, meu Tenente, faça o favor de ficar quieto.
Houve uma sensação de dor, perante uma tesourada mal medida. Hagman cuspiu no pingo de sangue que surgiu no crânio de Sharpe, limpando-o em seguida.
Os Sapos vão tomar a cidade, não é, meu Tenente? É o que parece - disse Sharpe.
E a seguir vão marchar sobre Lisboa, não é? - perguntou Hagman, continuando a cortar o cabelo.
- Lisboa fica muito longe - disse Sharpe.
- Talvez, meu Tenente, mas eles são muitos e nós somos muito poucos.
- Mas dizem que Wellesley vem para cá - disse Sharpe.
- É o que o meu Tenente nos diz - disse Hagman -, mas ele não pode fazer milagres.
- Tu estiveste em Copenhaga, Dan - disse Sharpe -, e ao longo da costa, aqui. - Sharpe referia-se às batalhas de Roliça e do Vimeiro. - já viste do que ele é capaz.
- Vistos das fileiras, os generais são todos iguais - disse Hagman - e quem sabe se Sir Arthur está realmente a chegar?
Não passava tudo de um rumor, o de que Sir Arthur Wellesley ia substituir no comando o general Cradock, e nem toda a gente acreditava nisso. Muitos achavam que os ingleses iam retirar, que deviam retirar, que iriam desistir da contenda e iriam deixar os franceses tomar Portugal.
- Volte a cabeça para a direita, meu Tenente - disse Hagman.
A tesoura tinia atarefada, nem sequer parando quando uma bala de canhão se enterrou na igreja no cimo da colina. Uma nuvem de poeira surgiu ao lado da torre sineira caiada de branco, ao longo da qual apareceu de repente uma grande racha. A cavalaria portuguesa fora tragada pelo fumo do canhão e uma corneta soou ao longe. Houve uma erupção de tiros de mosquete e depois silêncio. Devia estar um edifício a arder por trás do cimo da colina, pois havia uma grande coluna de fumo derivando para oeste.
- Como é que é possível alguém chamar House Beautiful à sua própria casa? - ponderou Hagman.
- Não sabia que sabias ler, Dan - disse Sharpe.
- E não sei, meu Tenente. Foi o Isaías que leu.
- Tongue! - chamou Sharpe. - O que é que levaria alguém a chamar House Beautiful à sua casa?
Isaías Tongue, alto, magro, moreno e culto, que se alistara no exército porque era um bêbado e perdera o emprego respeitável, sorriu.
- Porque é um bom protestante, meu Tenente.
- Porque é o quê?
- É retirado de um livro de John Bunyan - explicou Tongue - intitulado Pilgrims Progress.
- Já ouvi falar dele - disse Sharpe.
- Há quem o considere uma leitura essencial - disse Tongue vivamente. - É a história do percurso de uma alma, do pecado à salvação, meu Tenente.
- O género de coisas para deixar as velas a arder à noite - disse Sharpe.
- E o herói, Christian - continuou Tongue, ignorando o sarcasmo de Sharpe - recebe as pessoas na House Beautiful, onde conversa com as quatro virgens.
Hagman pôs-se a rir.
- Vamos entrar, meu Tenente.
- És muito velho para uma virgem, Dan - disse Sharpe.
- Discrição - prosseguiu Tongue -, Fé, Prudência e Caridade.
- O que é que queres dizer com isso? - perguntou Sharpe.
- Eram esses os nomes das virgens, meu Tenente - disse Tongue.
- Raisparta! - exclamou Sharpe.
- Caridade é a minha - disse Hagman. - Puxe o colarinho para baixo, meu Tenente. Assim está bem - acrescentou ele, aparando o cabelo da nuca.
- Devia ser um velho rabugento, esse Mister Savage, se foi ele quem pôs o nome à casa. - Hagman inclinou-se, para manejar a tesoura por cima do colarinho alto de Sharpe. - E porque é que o capitão nos deixou aqui, meu Tenente?
- Ele quer que a gente tome conta do coronel Christopher - disse Sharpe.
- Tomar conta do coronel Christopher - repetiu Hagman, tornando evidente a sua desaprovação, pela lentidão com que pronunciou as palavras. Hagman era o homem mais velho dos fuzileiros de Sharpe, um caçador furtivo do Cheshire que era um tiro fatal com o seu rifle Baker. - Então, agora, o coronel Christopher não sabe tomar conta de si próprio?
- O capitão Hogan deixou-nos aqui, Dan - disse Sharpe -, portanto é porque acha que o coronel precisa de nós.
- E o capitão é um bom homem, meu Tenente - disse Hagman. - Pode largar o colarinho. Está quase.
Mas porque teria o capitão Hogan deixado Sharpe e os seus fuzileiros para trás? Sharpe interrogava-se a esse respeito, enquanto Hagman terminava a tarefa. E o que é que ele quereria dizer com a última recomendação de não perder de vista o coronel Christopher? Sharpe só estivera com o coronel Christopher uma única vez. Hogan estava a elaborar o mapa da região do Alto Cávado e o coronel, com o seu criado, haviam surgido cavalgando das montanhas e haviam partilhado do bivaque com os fuzileiros. Sharpe não gostara de Christopher, o qual lhe parecera muito sobranceiro e mesmo sarcástico acerca do trabalho de Hogan.
- Você, Hogan, faz o mapa do país - dissera o coronel -, mas eu faço-lhes o mapa do que lhes vai na mente. É uma coisa muito complicada, a mente humana, não é coisa simples como as montanhas, os rios e as pontes.
Para além dessa declaração, não explicara a sua presença por ali, tendo prosseguido caminho na manhã seguinte. Tinha revelado que se instalara no Porto, onde, muito provavelmente, fora onde conhecera Mrs. Savage e a filha desta, e Sharpe gostaria de saber porque o coronel não persuadira a viúva a sair do Porto mais cedo.
- Está feito, meu Tenente - disse Hagman, enrolando a tesoura num pedaço de calfe -, e agora vai sentir o vento frio, como uma ovelha recém-tosquiada.
- Também devias cortar o cabelo, Dan - disse Sharpe.
- Isso enfraquece um homem, meu Tenente, enfraquece-o muito. Hagman franziu o sobrolho ao olhar para a colina, quando duas balas de canhão atingiram o alto da estrada, uma delas levando a perna de um artilheiro português. Os fuzileiros de Sharpe observaram sem expressão a bala a rolar, fazendo o sangue espirrar tal girândola de fogo, para finalmente embater e parar contra um muro do outro lado da estrada.
Hagman riu-se.
- É estranho chamar Discrição a uma rapariga! Não é um nome natural, meu Tenente. Eu nunca chamaria Discrição a uma filha.
- Isso está num livro, Dan - disse Sharpe -, por isso é que não é natural. Sharpe subiu para o alpendre e empurrou a porta com força, mas verificou que estava fechada à chave. Onde estaria, então, o coronel Christopher? Mais portugueses corriam encosta abaixo e estes estavam tão atemorizados que não paravam ao verem soldados ingleses, continuando sempre a correr. O canhão português estava a ser engatado à carreta e balas perdidas de mosquete embatiam nos cedros e tiniam nas telhas, nas gelosias e nas pedras da House Beautiful. Sharpe fez soar o batente da porta trancada, mas não houve resposta.
- Meu Tenente! - o sargento Patrick Harper tentava chamar a atenção de Sharpe. - Meu Tenente!
Harper inclinou a cabeça para a parte lateral da casa. Sharpe afastou-se da porta e viu o tenente-coronel Christopher a sair da cocheira, a cavalo.
O coronel, armado de sabre e com duas pistolas à cinta, vinha a palitar os dentes com um palito de madeira, coisa que fazia constantemente, decerto porque se orgulhava dos dentes brancos. Vinha acompanhado pelo criado português que, montado no cavalo de reserva do patrão, transportava uma grande mala, tão atulhada de rendas, de sedas e de cetins que nem fechada estava.
O coronel Christopher travou o cavalo, tirou o palito da boca e olhou admirado para Sharpe.
- Mas que raio está a fazer aqui, nosso Tenente?
- Tenho ordens para permanecer junto do meu Coronel - respondeu Sharpe, olhando outra vez para a mala.
Teria o coronel estado a saquear a House Beautiful.
O coronel viu para onde Sharpe estava a olhar e rosnou para o criado:
- Fecha isso, raisteparta, fecha-me isso. - Christopher, embora o criado falasse bom inglês, utilizou o seu fluente português e encarou de novo Sharpe.
O capitão ordenou-lhe que ficasse comigo, é isso que está a querer dizer-me?
- É, sim, meu Coronel.
- E como é que espera fazer isso, hem? Eu tenho um cavalo e você, Sharpe, não tem. Tenciona correr atrás de mim com os seus homens?
- O capitão Hogan deu-me essa ordem, meu Coronel - retorquiu Sharpe, impassível.
Como sargento, aprendera a tratar com os oficiais difíceis. Falar pouco, em tom neutro, repetindo sempre, se necessário.
- Ordenou-lhe o quê? - inquiriu Christopher, pacientemente.
- Ficar com o senhor, meu Coronel. Para o ajudar a encontrar Miss; Savage. O coronel Christopher suspirou. Era um homem moreno, nos seus quarenta anos, mas ainda jovem e bem-parecido, com um ligeiro toque grisalho nas têmporas que lhe dava um ar distinto. Calçava botas pretas, vestia umas calças de montar lisas, uma capa vermelha orlada a preto, na cabeça um tricórnio preto. A orla preta da capa levara Sharpe a perguntar-lhe, quando vira o coronel pela primeira vez, se ele pertencia ao Dirty Half Hundred, o 50º Regimento, mas o coronel considerara a pergunta uma impertinência.
- Tudo o que precisa de saber, nosso Tenente, é que eu pertenço ao estado-maior do general Cradock. já ouviu falar no general, não ouviu?
Sharpe ficara calado depois da resposta de Christopher, mas Hogan, mais tarde, sugerira que o coronel era, muito provavelmente, um militar ”político”, querendo com isso dizer que ele não era nenhum militar, antes um homem que achava mais conveniente para a sua vida vestir um uniforme.
- Estou certo de que já terá sido um militar - dissera Hogan -, mas agora não. Acho que Cradock o foi buscar a Whitehall.
- A Whitehall? Aos Horse Guards?
- Não, qual quê? - dissera Hogan. Os Horse Guards eram o quartel-general do exército e era óbvio que Hogan achava que Christopher provinha de outro local muito mais sinistro. - O mundo é muito confuso, Richard explicara o capitão - e o Foreign Office acha que nós, militares, somos todos canhestros, por isso gostam de ter gente deles no terreno para emendar os nossos erros. E, claro, para descobrirem coisas. - Que era, precisamente, o que o tenente-coronel Christopher parecia andar a fazer: a descobrir coisas.
- Ele diz que anda a levantar o mapa das mentes deles - dissera Hogan, com ar pensativo - e eu penso que isso significa que ele anda a tentar descobrir se vale a pena defendermos Portugal e se os portugueses estão dispostos a combater. E, quando o souber, vai dizê-lo ao Foreign Office, antes de o dizer ao general Cradock.
- Claro que vale a pena defendermos Portugal - protestara Sharpe.
- Valerá? Se olharmos bem, Richard, vemos que Portugal se encontra numa situação de colapso.
As palavras amargas de Hogan exprimiam uma triste realidade. A Família Real portuguesa fugira para o Brasil, deixando o país sem liderança e, logo após a sua partida, tinham rebentado tumultos em Lisboa, de tal modo que muitos dos aristocratas portugueses andavam mais preocupados em se protegerem da multidão do que em defenderem a pátria da invasão francesa. Inúmeros oficiais do exército haviam já desertado, alistando-se na Legião Portuguesa que lutava pelo inimigo e os oficiais que restavam estavam mal treinados, comandando homens indisciplinados e armados com armas vetustas, quando as tinham. Em muitos lados, como na própria cidade do Porto, a lei civil desaparecera e as ruas estavam à mercê dos caprichos das milícias que, na falta de armas apropriadas, patrulhavam as ruas com lanças, chuços, machados e picaretas. Antes da chegada dos franceses, as milícias haviam massacrado metade dos burgueses do Porto, forçando a outra metade a fugir ou a barricar-se em casa, embora não tivessem incomodado os residentes ingleses.
Portugal encontrava-se, pois, numa situação de colapso, mas Sharpe tinha-se apercebido de como o homem comum odiava os franceses e tinha visto como os soldados abrandavam ao passarem diante do portão da House Beautiful. O Porto podia estar a cair nas mãos do inimigo, mas havia ainda muita gente a combater em Portugal, embora fosse difícil acreditar que ainda haveria soldados a acompanharem a retirada do canhão de seis libras para o rio. O tenente-coronel Christopher relanceou o olhar pelos fugitivos e depois tornou a fixá-lo em Sharpe.
- Que raio estaria o capitão Hogan a pensar? - perguntou ele, obviamente sem esperar resposta. - Que utilidade tem você para mim? A sua presença só me pode atrasar. Acho que Hogan estava a ser cavalheiresco prosseguiu Christopher -, mas o homem, claramente, não tem mais senso do que uma batata. Você pode ir ter com ele, Sharpe, e diga-lhe que eu não preciso de ajuda para resgatar o raio de uma miúda tonta.
O coronel tivera de elevar a voz, porque o troar dos canhões e o matraquear dos mosquetes se tornara, de repente, intenso.
- Ele deu-me uma ordem, meu Coronel - disse Sharpe, obstinadamente.
- E eu dou-lhe outra - disse Christopher, no tom indulgente que empre-garia para se dirigir a uma criança.
O cepilho da sela dele era largo e plano, formando uma superfície de escrita, e ele estendia agora um bloco-notas nessa secretária improvisada, tirando um lápis do bolso, quando outra das árvores em flor no cimo da colina foi atingida por uma bala de canhão, enchendo o ar de pétalas esvoaçantes.
- Os franceses estão em guerra com as cerejeiras - disse Christopher tolamente.
- Com Judas - disse Sharpe.
Christopher lançou-lhe um olhar admirado e enraivecido. O que é que está para aí a dizer?
É uma árvore-de-judas - disse Sharpe.
Christopher continuava com um ar enraivecido e foi, então, que o sargento interveio.
- Não foi uma cerejeira, meu Coronel. Foi uma árvore-de-judas. Do mesmo género em que Iscariote se enforcou, depois de trair Nosso Senhor. Christopher continuou de olhar fixo em Sharpe, depois pareceu compreender que não havia nenhuma intenção de o ofender.
- Portanto, não é uma cerejeira, é isso? - disse ele, humedecendo, depois, a ponta do lápis. - Ordeno-lhe por este meio que - ia falando conforme escrevia - se dirija para sul do rio, note bem, Sharpe, para sul do rio, apresentando-se ao capitão Hogan dos Royal Engineers. Assinado, tenente-coronel James Christopher na tarde de quinta-feira, 19 de Março do ano da graça de Nosso Senhor de 1809. - Assinou a ordem com um floreado, arrancou a página do bloco-notas, dobrou-a ao meio e entregou-a a Sharpe. - Eu sempre pensei que trinta moedas de prata foi um preço manifestamente barato para a mais célebre traição da história. Possivelmente, enforcou-se envergonhado por isso. Agora parta - disse ele com um ar grandioso - e ”stand not upon the order of your going”. - Vendo o espanto de Sharpe, explicou, esporeando o cavalo para o portão: - Macbeth, uma das peças de Shakespeare. E recomendo-lhe, realmente, que se apresse, nosso Tenente - gritou ele para trás -, porque o inimigo vai chegar aqui a qualquer momento.
Quanto a isso, ao menos, tinha razão. Uma grande nuvem de poeira e de fumo saía dos redutos das defesas a norte da cidade. Fora aí que os portugueses haviam concentrado o maior esforço de resistência, mas a artilharia francesa conseguira desmantelar os parapeitos e, agora, a sua infantaria assaltava os bastiões e a maioria dos defensores da cidade fugia. Sharpe viu Christopher e o criado cavalgarem por entre os fugitivos e meterem por uma rua voltada a leste. Christopher não estava a retirar-se para sul, ia salvar a desaparecida Miss Savage, embora corresse um grande risco para sair da cidade antes de os franceses entrarem.
- Bem, meus amigos - gritou Sharpe - chegou a altura de escaparmos. Sargento! Em coluna de dois! Para a ponte!
- Já não era sem tempo - resmungou Williamson.
Sharpe fez de conta que não ouviu. Tendia a ignorar os comentários de Williamson, esperando que o homem se emendasse, sabendo, porém, que quanto mais tardasse a fazer alguma coisa, mais violenta iria ser a solução.
- Coluna de dois! - gritou Harper. - Mantenham-se juntos!
Uma bala de canhão troou por cima deles quando se açudavam a sair do portão da frente e se metiam na calçada íngreme que conduzia ao Douro. A calçada estava repleta de refugiados, civis e militares, todos a correrem para a segurança da margem sul do rio, embora Sharpe pensasse que os franceses também iam atravessar o rio dentro de um ou dois dias e, portanto, a segurança era, muito possivelmente, ilusória. O exército português estava a recuar para Coimbra, ou talvez mesmo para Lisboa, onde Cradock dispunha de dezasseis mil homens que certos políticos, em Londres, queriam fazer repatriar. Para que ia servir, diziam eles, uma tão diminuta força britânica, contra os poderosos exércitos franceses? O marechal Soult estava a conquistar Portugal e mais dois exércitos franceses aguardavam junto à fronteira leste com a Espanha. Combater ou fugir? Ninguém sabia o que os ingleses iriam fazer, mas o rumor de que Sir Arthur Wellesley ia voltar para substituir Cradock, sugeria a Sharpe que os ingleses tencionavam bater-se e, por isso, bem desejava que o rumor fosse verdade. Combatera na índia sob o comando de Sir Arthur, estivera com ele em Copenhaga e, depois, na Roliça e no Vimeiro e, para Sharpe, não havia melhor general na Europa.
Sharpe estava agora a meio da encosta. O bornal, a mochila, o rifle, a cartucheira e a bainha da espada tudo balançava e lhe embatia na correria. Poucos oficiais levavam consigo uma arma de cano comprido, mas Sharpe prestara em tempos serviço nas fileiras e sentia-se desajeitado sem o rifle ao ombro. Harper perdeu o equilíbrio, balançando vivamente, porque as cardas novas das botas escorregavam constantemente na calçada. O rio era visível por entre as casas. O Douro, a deslizar para o mar próximo, era tão largo como o Tamisa em Londres, só que, ali, corria por entre grandes colinas. A cidade do Porto ficava na íngreme colina do norte, enquanto Vila Nova de Gaia ficava na do sul e era em Vila Nova que a maioria dos ingleses tinha as suas casas.
Só as famílias muito antigas, como os Savages, é que viviam na margem norte e todo o vinho do Porto era feito na margem sul, nas caves dos Crofts, dos Savages, dos Taylors Fladgate, dos Burmesters, dos Smiths Woodhouse e dos Goulds, quase todas pertença de ingleses, as suas exportações muito contribuindo para os cofres da fazenda portuguesa. Agora, porém, os franceses estavam a chegar e, no cimo da colina de Vila Nova de Gaia, sobranceira ao rio, o exército português instalara uma dúzia de canhões, no terraço de um convento. Os artilheiros viram os franceses aparecerem na colina oposta e os canhões dispararam, os rodados abrindo sulcos nas lajes do terraço. Os tiros de canhão troavam por cima deles, com o som oco e ribombante do trovão. O fumo da pólvora derivava lentamente para terra, obscurecendo o convento caiado de branco, à medida que as balas de canhão desfaziam as casas mais no alto. Harper perdeu de novo o equilíbrio, desta vez caindo.
- Raisparta as botas! - exclamou ele, apanhando o rifle.
Os outros fuzileiros tinham-se atrasado com a chusma de fugitivos.
- Meu Deus!
O atirador Pencileton, o mais jovem da companhia, foi o primeiro a ver o que estava a acontecer no rio e estava de olhos abertos a olhar para a multidão de homens, mulheres, crianças e gado apinhada na estreita ponte de barcas. Quando o capitão Hogan, ao nascer do Sol, trouxera Sharpe e os seus homens para a margem norte, havia apenas algumas pessoas a seguir no sentido contrário, agora, porém, a ponte estava cheia e a multidão tinha de caminhar ao ritmo dos mais lentos, com cada vez mais gente e animais a tentarem abrir caminho para a margem sul.
- Como é que vamos atravessar, meu Tenente? - perguntou Pencileton. Sharpe não tinha resposta para aquela pergunta.
- Continua a avançar! - disse ele, conduzindo os seus homens por uma travessa que descia, tal escada de pedra, para uma rua mais abaixo.
Um bode fazia tinir os cascos à frente dele, arrastando uma corda presa em redor do pescoço. Um soldado português jazia, bêbado, no final da travessa, o mosquete ao lado dele e uma borracha de vinho ao peito, Sharpe, sabendo que os seus homens iriam parar para beber o vinho, empurrou a borracha para a calçada com o pé e calcou-a tanto que a borracha rebentou. As ruas tornavam-se mais estreitas e mais atulhadas de gente, à medida que se aproximavam do rio, sendo as casas agora mais altas e intervaladas por oficinas e armazéns. Um abegão estava a pregar tábuas na porta, uma precaução que só serviria para enraivecer os franceses, os quais iriam, decerto, castigá-lo, destruindo-lhe as ferramentas. Uma persiana recém-pintada batia sob o vento de oeste. Roupa a secar, abandonada, pendia das fachadas das casas. Uma bala de canhão embateu em telhas, espalhando cavacos e cacos pela rua. Um cão, com um golpe na anca até ao osso, produzido por uma telha, coxeava rua abaixo, ganindo lamentosamente. Uma mulher gritava por um filho perdido. Uma coluna de órfãos, todos com bibes soturnos, como os guarda-pós dos agricultores, choravam de terror, com duas freiras a tentarem abrir caminho para eles. Um padre saía a correr de uma igreja, com uma pesada cruz de prata ao ombro e uma pilha de paramentos no outro. Estava-se a quatro dias da Páscoa, pensou Sharpe.
- Usem as coronhas dos rifles - gritou Harper, encorajando os fuzileiros a abrirem caminho pelo meio da multidão que bloqueava o estreito pórtico em arcada que dava acesso ao cais.
Uma carroça carregada de mobília virara-se no meio do caminho e Sharpe ordenou aos seus homens para a arrastarem para o lado, a fim de abrirem espaço. Uma espineta, ou talvez fosse um cravo, estava a ser espezinhada, os delicados embutidos desfeitos em pedaços. Alguns dos homens de Sharpe estavam a abrir caminho para a ponte aos órfãos, utilizando os rifles para manterem os adultos afastados. Uma pilha de cestos tombara e dúzias de enguias vivas deslizavam pelo empedrado. Os artilheiros franceses haviam arrastado as peças para a parte alta da cidade e, agora, desatrelavam-nas, para ripostar ao fogo da grande bateria portuguesa, instalada no terraço do convento, do outro lado do rio.
Hagman lançou um aviso, ao ver três soldados de capote azul aparecerem de uma viela e uma dúzia de atiradores rodou para enfrentar a ameaça, mas Sharpe gritou para os homens baixarem as armas.
- São portugueses! - exclamou ele, reconhecendo os altos quépis. E desarmem os cães - ordenou ele, para evitar que algum dos rifles, acidental-mente, disparasse sobre a multidão de refugiados.
Uma mulher embriagada cambaleou da porta de uma taberna, tentando abraçar um dos soldados portugueses e Sharpe, ao olhar para trás perante os protestos do soldado, viu dois dos seus homens, Williamson e Tarrant, desaparecerem pela porta da taberna. Tinha de ser o raio do Williamson, pensou Sharpe e, gritando a Harper que prosseguisse, seguiu os dois homens para dentro da taberna. Tarrant voltou-se para o enfrentar, mas foi demasiado lento e Sharpe socou-o no ventre, fez embater as cabeças dos dois homens uma na outra, deu um murro no pescoço de Williamson, esbofeteou Tarrant e arrastou ambos para a rua. Não dissera uma palavra e continuou calado ao pontapeá-los na direcção da arcada.
Uma vez fora da arcada, a pressão dos refugiados era ainda maior, dado que as tripulações de cerca de trinta navios mercantes ingleses encurralados na cidade, em virtude de um obstinado vento oeste, tentavam, também, escapar. Os marinheiros tinham esperado até ao último momento, na esperança de que o vento mudasse, mas, agora, desertavam. Os mais afortunados utilizavam os escaleres dos seus navios para atravessarem o Douro, os desafortunados juntavam-se à turba caótica para alcançarem a ponte.
- Por aqui! - gritou Sharpe, conduzindo os seus homens pela fachada em arcada dos armazéns, pressionando a retaguarda da multidão, na esperança de chegar mais perto da ponte.
Os tiros de canhão ribombavam por cima deles, A bateria portuguesa estava envolta em fumo e esse fumo tornava-se cada vez mais espesso, à medida que cada peça disparava, produzindo um brilho vermelho repentino no interior da nuvem de fumo, um jacto de fumo negro formando uma vaga por sobre a brecha do rio, o som trovejante dos tiros ribombando, enquanto a bala ou a granada cruzava o céu na direcção dos franceses.
Uma pilha de caixas de peixe vazias proporcionou a Sharpe uma plataforma donde podia ver a ponte e avaliar quanto tempo levariam os homens a atravessá-la em segurança. Ele sabia que não havia muito tempo. Cada vez mais soldados portugueses afluíam pelas íngremes vielas e os franceses não deviam estar muito longe, atrás deles. Ouvia o crepitar de mosquetes, tal contraponto ao troar dos canhões. Olhou por cima das cabeças da multidão e verificou que a carruagem de Mrs. Savage conseguira chegar à outra margem, mas que não utilizara a ponte, tendo atravessado o rio numa incómoda barcaça de vinho. Havia outras barcaças a atravessarem o rio, mas eram manobradas por homens armados que só embarcavam pessoas dispostas a pagar. Sharpe sabia que poderia forçar a passagem numa dessas barcaças, se conseguisse chegar à beira do cais, mas, para o fazer, teria de abrir caminho por entre uma multidão de mulheres e de crianças.
Reconheceu que a ponte podia ser um percurso de fuga mais fácil. A ponte consistia num pavimento de pranchas de madeira, colocadas sobre dezoito grandes barcaças, firmemente ancoradas contra a corrente do rio e contra as grandes marés do oceano próximo, mas esse pavimento estava agora pejado de refugiados em pânico, cujo frenesim aumentara, quando as primeiras balas de canhão francesas começaram a mergulhar nas águas do rio. Sharpe, voltando-se para observar a colina, viu os uniformes verdes da cavalaria francesa a assomarem por debaixo do fumo das peças francesas, enquanto os uniformes azuis da infantaria francesa surgiam já mais abaixo na colina.
- Deus salve a Irlanda! - exclamou Patrick Harper e Sharpe, sabendo que o sargento irlandês só soltava essa imprecação quando as coisas ficavam desesperadas, tornou a olhar para o rio, para ver o que tinha provocado aquelas palavras proferidas pelo sargento.
Olhou e ficou de olhos abertos, pois apercebeu-se de que não iriam atravessar o rio. Mais ninguém iria, pois acontecera um desastre.
- Santo Deus! - exclamou Sharpe. - Santo Deus!
No meio do rio, a meio da ponte, os engenheiros portugueses tinham inserido uma ponte levadiça, de modo a que as barcaças do vinho e outras embarcações pequenas pudessem subir o rio. A ponte levadiça preenchia o maior vão entre as barcaças, fora construída com pesadas traves de carvalho, cobertas de pranchas e era erguida através de dois cabrestantes, os quais enrolavam uns cabos que passavam por umas roldanas montadas em dois grossos troncos de madeira, firmemente reforçados com escoras de ferro. O conjunto do mecanismo era extremamente pesado, o vão da ponte levadiça muito largo e os engenheiros, preocupados com o excesso de carga, haviam colocado painéis, a cada um dos extremos da ponte, indicando que, de cada vez, apenas uma carroça, ou uma carruagem, ou uma peça de artilharia, poderia passar pela ponte levadiça. Agora, porém, era tão grande o amontoado de refugiados em cima da ponte que as duas barcaças que suportavam a pesada ponte levadiça estavam a afundar-se sob a enorme carga. As barcaças, como todos os barcos, metiam água e devia haver homens a bordo para bombearem a água dos porões. Esses homens, porém, tinham fugido como os outros e o peso da multidão e a lenta infiltração da água começaram a fazer baixar a ponte, até que as maciças barcaças centrais ficaram totalmente sob a água e a rápida corrente do rio começou a embater e a corroer o pavimento da ponte. As pessoas que ali se encontravam gritavam, algumas estacando, mas cada vez era maior a pressão da multidão, desde a margem norte, e, então, a parte central do pavimento mergulhou na água cinzenta, à medida que as pessoas de trás empurravam mais gente para a desaparecida ponte levadiça, a qual submergia cada vez mais.
- Oh, meu Deus! - exclamou Sharpe.
Ele viu as primeiras pessoas a serem engolidas pelas águas e ouvia-lhes os gritos.
- Deus salve a Irlanda! - repetia Harper, fazendo o sinal da cruz. Os trinta metros centrais da ponte estavam agora debaixo de água. Esses trinta metros estavam, agora, livres de gente, mas mais gente estava a ser impelida para o vão, o qual, de repente, espumou de branco, quando a ponte levadiça foi arrancada do resto da ponte pela pressão da corrente do rio. O pavimento empinou-se, voltou o fundo negro para cima e mergulhou a caminho do mar. Agora, já não havia ponte para atravessar o Douro, mas as pessoas na margem norte ainda não sabiam que a ponte estava partida ao meio e continuavam a fazer pressão e a lutar para abrir caminho para a ponte desfeita. Os que estavam à frente não conseguiam detê-las e eram inexoravelmente empurrados para a fenda, onde a água espumava contra as extremidades quebradas da ponte. Os gritos da multidão aumentavam e esses gritos provocavam mais pânico, de tal modo que cada vez mais gente se esforçava em direcção ao local onde os refugiados se estavam a afogar. O fumo das peças, sob a acção de uma errante lufada de vento, mergulhou para o rio e revoluteou sobre a parte desfeita da ponte, onde as pessoas se debatiam desesperadamente na água, ao serem arrastadas pela corrente. As gaivotas guinchavam, rodopiando. Alguma tropa portuguesa tentava deter os franceses nas ruas da cidade, mas era um esforço inglório. O inimigo era muito superior em número, detinha o terreno mais alto e, por isso, havia cada vez mais forças francesas a descerem a colina. Os gritos dos fugitivos que se encontravam em cima da ponte mais parecia a lamúria dos proscritos no Dia do Juízo, com os tiros de canhão a ribombarem por cima, com as ruas da cidade a tinirem com os tiros de mosquete, com os cascos de cavalos a ecoarem nas paredes das casas e com as chamas a crepitarem nos edifícios atingidos pelas balas dos canhões.
- Aquelas pobres crianças - disse Harper. - Deus as ajude! - Os órfãos, nos seus uniformes sombrios, estavam a ser empurrados para o rio. - Devia haver ali uma barcaça!
Porém, os homens que manobravam as barcaças tinham remado para a margem sul, abandonando o seu dever e, por isso, não havia barcos para salvar os afogados, havia apenas horror num frio rio cinzento, uma fila de pequenas cabeças a serem arrastadas pela corrente revolta e Sharpe sem nada poder fazer. Não conseguia alcançar a ponte e, por mais que gritasse à multidão para desistir da travessia, ninguém entendia o seu inglês. Balas de mosquete fustigavam agora o rio e algumas atingiam os fugitivos na ponte fendida.
- Mas que raio podemos nós fazer? - perguntava Harper.
- Nada - respondeu Sharpe amargamente -, a não ser sair daqui. Voltou as costas à multidão que se afogava e conduziu os seus homens para leste, ao longo do cais do rio. Muita outra gente estava a fazer o mesmo, na convicção de que os franceses não teriam conquistado ainda os arredores interiores da cidade. O soar dos mosquetes nas ruas era constante e as peças portuguesas do outro lado do rio disparavam agora para os franceses que se encontravam nas ruas mais abaixo da colina, de modo que o disparo das armas era pontoado pelo ruído de paredes a ruírem e de emadeiramentos a estalarem.
Sharpe deteve-se no final do cais, para se certificar de que todos os homens ali estavam e, olhando para trás, para a ponte, verificou que tanta gente havia sido empurrada para fora da ponte que os corpos se amontoavam na fenda, a água saltando por cima deles e cobrindo-lhes as cabeças com espuma. E viu um soldado português a caminhar apoiando-se nas cabeças, para alcançar uma das barcaças sobre as quais se apoiava a ponte levadiça. Outros o seguiram, escorregando nas cabeças dos afogados e dos mortos. Sharpe estava demasiado longe para ouvir os gritos.
- O que é que aconteceu? - perguntou Dodd, habitualmente o mais pacato dos homens de Sharpe.
- Deus estava a olhar para o outro lado - disse Sharpe, falando depois para Harper. - Estão todos?
- Todos presentes, meu Tenente. - O grande irlandês parecia ter chorado. - Aquelas pobres crianças - disse ele, sentidamente.
- Não podíamos fazer nada - disse Sharpe, conciso, e era essa a verdade, embora ela não o fizesse sentir-se melhor. - Williamson e Tarrant estão de castigo - disse ele a Harper.
- Outra vez?
- Outra vez - disse Sharpe, pensando na estupidez dos dois homens, mais preocupados em beber um copo de vinho do que em escapar, mesmo se isso implicasse serem feitos prisioneiros. - E, agora, toca a andar!
Seguiu os fugitivos civis, os quais, ao chegarem ao local onde o cais ficava bloqueado pela antiga muralha da cidade, se tinham posto a subir por uma azinhaga. A velha muralha tinha sido construída nos tempos em que os homens combatiam de armadura e com arcos e flechas e as pedras cobertas de musgo não aguentariam dois minutos sob o fogo de um canhão moderno. Como que a vincar a sua inutilidade, a cidade tinha aberto grandes buracos nas antigas fortificações. Sharpe levou os homens por uma dessas brechas e atravessou o que havia sido um fosso, açodando-se depois nas ruas mais largas da cidade nova que surgira atrás das muralhas.
- Sapos! - avisou Harper. - No cimo da colina, meu Tenente! Sharpe olhou para a esquerda e viu tropa de cavalaria francesa, preparada para cortar o caminho aos fugitivos. Eram dragões, cinquenta ou mais deles, nos seus uniformes de casaca-verde, todos armados de sabre e de curtas carabinas. Tinham capacetes de cobre, os quais, em tempo de guerra, eram cobertos com um pano, para que o metal polido não reflectisse a luz do sol.
- Continuem a correr! - gritou Sharpe.
Os dragões não haviam visto os fuzileiros ou, se os viram, não procuravam um confronto, antes cavalgando para onde a estrada ladeava uma grande colina, no cimo da qual se via um enorme edifício branco, de telhado plano. Talvez uma escola, ou um hospital. A estrada principal dirigia-se para norte da colina, mas havia outra para o sul, entre a colina e o rio. Os dragões encontravam-se na estrada principal, por isso Sharpe dirigiu-se para a sua direita, esperando escapar pela estreita azinhaga ao longo da margem do Douro. Os dragões, porém, por fim viram-nos e dirigiram as montadas pelo flanco da colina, para bloquearem a estrada mais pequena junto ao rio. Sharpe olhou para trás e viu infantaria francesa a seguir a cavalaria. Raios! Depois, viu que mais tropas francesas o perseguiam pela fenda da muralha. Podia, talvez, fugir à infantaria, mas os dragões encontravam-se à frente dele e os primeiros já estavam a desmontar e a erguer uma barricada na estrada. Os civis que fugiam da cidade estavam a dividir-se, uns subindo a colina em direcção ao grande edifício, outros, desesperados, regressando a suas casas. Os canhões continuavam a sua própria batalha por cima do rio, as peças francesas tentando enfrentar o bombardeamento da grande bateria portuguesa, a qual provocava dezenas de fogos na cidade conquistada, à medida que os impactos destruíam fornos, lareiras e forjas. O fumo negro dos edifícios a arder misturava-se com o fumo cinzento-claro das armas pesadas e, sob o fumo, no vale das crianças afogadas, Richard Sharpe encontrava-se encurralado.
O tenente-coronel James Christopher não era nem tenente, nem coronel, embora, em tempos, tivesse prestado serviço, como capitão, nos Lincolnshire Fencibles e ainda mantivesse esse posto. Fora baptizado James Augustus Meredith Christopher e, durante todo o seu percurso acadêmico, fora conhecido por Jam. O pai havia sido médico na pequena cidade de Saxilby, uma profissão e um local que James Christopher gostava de ignorar, preferindo recordar que a mãe era prima em segundo grau do conde de Rochford, tendo sido a influência deste que levara Christopher da Universidade de Cambridge para o Foreigri Office, onde o seu domínio de línguas, a sua serenidade natural e a sua inteli-gência pronta lhe haviam proporcionado rápida promoção. Haviam-lhe sido atribuídas responsabilidades precoces e fora apresentado a homens importantes que lhe tinham confiado grandes segredos. Reconheciam-lhe grandes pers-pectivas e consideravam-no um jovem sensato, cuja opinião era habitualmente a ter em conta, o que queria dizer, a mor das vezes, que ele meramente se limitava a concordar com os superiores, mas essa reputação conduzira-o à presente nomeação, a qual constituía uma missão tão solitária quanto secreta. A tarefa de James Christopher consistia em aconselhar o Governo se era ou não prudente manter as tropas britânicas em Portugal.
A decisão, é evidente, não cabia a James Christopher. Embora fosse um homem com futuro no Foreign Office, a decisão de permanecer ou de retirar seria tomada pelo primeiro-ministro, por isso, o que interessava era a qualidade da informação prestada ao chefe do Governo. Os militares, obviamente, queriam ficar, pois a guerra proporcionava promoções e o Foreign, Secretary queria que as tropas permanecessem porque detestava os franceses, mas outros homens em Whitehall tinham uma visão diferente e haviam enviado James Christopher para ele tomar o pulso a Portugal. Os Whigs, inimigos da Administração, receavam uma derrota como a da Corunha. Por isso, era melhor, diziam, reconhecer a realidade e chegar a um acordo imediato com os franceses. E os Whigs dispunham no Foreign. Office de influência bastante para colocarem James Christopher em Portugal. O exército, a quem não fora comunicada a verdadeira natureza da missão dele, não obstante, concordara em arvorá-lo em tenente-coronel, designando-o como ajudante-de-campo do general Cradock. Christopher utilizava os mensageiros do exército para enviar informações militares ao general e notas políticas para a embaixada em Lisboa, donde, embora dirigidas ao embaixador, as mensagens eram remetidas para Londres sem serem abertas. O primeiro-ministro precisava de conselhos seguros e James Christopher devia informar dos factos que fundamentavam os seus conselhos, embora, ultimamente, andasse muito ocupado a provocar esses factos. Para além das confusas realidades da guerra, ele enxergava um futuro dourado, Em suma, James Christopher descobrira a luz.
Nada disto, porém, ocupava o pensamento dele ao afastar-se do Porto, cavalgando a menos de um tiro de canhão de distância das tropas francesas. Foram disparados alguns tiros de mosquete na direcção dele, mas Christopher e o seu criado montavam soberbos cavalos irlandeses e rapidamente escaparam aos perseguidores pouco persistentes. Dirigiram-se para as colinas, galopando ao longo do terrapleno de uma vinha, subindo depois para um bosque de pinheiros e de carvalhos, onde pararam para os cavalos descansarem.
Christopher olhou para trás, para oeste. O sol havia secado as estradas, depois da grande chuvada nocturna. Uma mancha de poeira no horizonte indicava onde o comboio da bagagem do exército francês avançava em direcção da recém-capturada cidade do Porto. A cidade, pelo seu lado, oculta agora pelas colinas, era indiciada por uma pluma de fumo negro, evolando-se das casas a arder e das atarefadas baterias de canhões cujo som, embora amortecido pela distância, soava como um ininterrupto trovão. Não havia tropas francesas a perseguirem Christopher. Uma dezena de trabalhadores alargava um fosso no meio do vale, ignorando os fugitivos que passavam na estrada próxima, como que a sugerirem que a guerra era um problema da cidade, que não deles. Não havia fuzileiros ingleses entre os fugitivos, notou Christopher, mas surpreender-se-ia se visse ali Sharpe e os seus homens, tão longe da cidade. Sem dúvida nenhuma, já deviam ter sido mortos ou capturados. Em que estaria Hogan a pensar, ao ordenar a Sharpe que o acompanhasse? Suspeitaria o astuto irlandês de alguma coisa? Mas como é que Hogan podia saber alguma coisa? Christopher preocupou-se com o problema uns momentos, logo o afastando da mente. Hogan nada podia saber, quisera apenas ajudar.
- Os franceses levaram a melhor hoje - comentou Christopher para o criado português, um jovem com o cabelo a escassear e uma cara magra e ingénua.
- No fim, eles vão ver o diabo pela frente, senhor Coronel - respondeu o criado.
- Por vezes, os homens têm de fazer o trabalho do diabo - disse Christopher, tirando um pequeno óculo do bolso e apontando-o para as montanhas distantes. - Nos próximos dias - acrescentou ele, sempre a olhar pelo óculo - vais ver algumas coisas que te vão surpreender.
- Se o senhor o diz - retorquiu o criado.
- Mas ”há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que as que a tua filosofia sonha”.
- Se o senhor o diz - repetiu o criado, perguntando-se por que é que o oficial inglês lhe chamava Horácio, quando o nome dele era Luís, mas pensou que era melhor não lhe perguntar porquê.
Luís tinha sido barbeiro em Lisboa, onde, por vezes, cortava o cabelo a funcionários da embaixada inglesa. Haviam sido esses funcionários que o recomendaram a Christopher, garantindo que ele era de confiança. Christopher aceitara-o e pagava-lhe um bom salário em ouro de lei, ouro inglês, e, embora os ingleses fossem doidos e se enganassem nos nomes, eram eles que cunhavam as melhores moedas do mundo, o que significava que o coronel Christopher podia chamar a Luís o nome que quisesse, desde que continuasse a pagar-lhe os grossos guinéus gravados com a figura de São Jorge a matar o dragão.
Christopher tentava aperceber-se de algum indício de perseguição por parte dos franceses, o óculo, porém, era pequeno, antiquado e tinha a lente riscada, de forma que pouco melhor via com ele do que sem ele. Tencionava comprar outro, mas nunca tivera a oportunidade de o fazer. Fechou o óculo, colocou-o na bolsa da sela e tirou de lá um novo palito que introduziu entre os dentes.
- Para diante - disse ele bruscamente, guiando o criado através do bosque, pelo cimo da colina e descendo para uma quinta com uma grande casa.
Era óbvio que Christopher conhecia bem o caminho, pois nunca hesitou, nem tão-pouco ficou apreensivo ao estacar a montada diante do portão da quinta.
- As cocheiras são acolá - disse ele para Luís, apontando para uma arcada -, a cozinha é por aquela porta azul e estão à nossa espera. Vamos passar a noite aqui.
- Não vamos a Vila Real de Zedes? - perguntou Luís. - Eu ouvi o senhor Coronel dizer que íamos à procura de Miss Savage.
- O teu inglês está a ficar demasiado bom, se já te permite escutar as conversas dos outros - disse Christopher, irritado. - Amanhã, Luís, amanhã iremos em busca de Miss Savage - disse Christopher, deslizando da sela e atirando as rédeas a Luís. - Arrefece os cavalos, desarreia-os, arranja-me qualquer coisa para comer e leva-me ao quarto. As criadas dir-te-ão onde estou.
Luís pôs-se a passear os cavalos para os arrefecer, depois meteu-os na cocheira, lavou-os e deu-lhes de beber e de comer. Terminada a tarefa, dirigiu-se à cozinha, onde uma cozinheira e duas criadas não manifestaram surpresa alguma ao vê-lo aparecer. Luís já se acostumara a ser conduzido a aldeias ou casas remotas onde o patrão era conhecido, mas nunca estivera naquela casa. Sentir-se-ia mais feliz se Christopher se tivesse retirado atravessando o rio, mas a quinta estava bem escondida nas montanhas e era possível que os franceses nunca ali chegassem. As criadas disseram a Luís que a casa e a quinta pertenciam a um comerciante de Lisboa, o qual lhes havia dado ordens no sentido de satisfazerem todos os desejos do coronel Christopher.
- Quer dizer que ele costuma aqui vir com frequência? - perguntou Luís. A cozinheira pôs-se a rir.
- Ele costumava vir com a mulher.
Isso explicava porque é que ele, Luís, nunca ali estivera. Gostava de saber quem seria essa mulher.
- Ele quer comer já - disse Luís. - Que mulher?
- A bela viúva - disse a cozinheira, depois suspirando. - Mas há um mês que não a vemos. É uma pena. Ele devia casar com ela.
A cozinheira tinha uma sopa de grão ao lume, deitou alguma numa tigela, cortou umas fatias de perna de carneiro, colocou tudo num tabuleiro, com vinho tinto e um pequeno pão recém-cozido.
- Diga ao senhor Coronel que estamos a preparar a refeição para o hóspede desta tarde.
- Um hóspede? - perguntou Luís, admirado.
- Tenho um hóspede para o jantar - disse-nos ele. - Agora despache-se. Não deixe a sopa arrefecer. Subindo as escadas, é à direita.
Luís levou o tabuleiro para cima. Era uma bela casa. Bem construída e bonita, com quadros antigos nas paredes. Viu a porta do quarto do patrão aberta e Christopher devia ter ouvido os passos, pois gritou a Luís que podia entrar sem bater.
- Põe a comida na mesa junto da janela.
Christopher tinha mudado de roupa e, agora, em vez das calças pretas, das botas pretas e da capa vermelha de oficial inglês, envergava calças azul-celeste, reforçadas a couro preto nos sítios em que tocariam numa sela. As calças eram muito justas ao corpo, por via de um debrum, a ambos os lados, que subia dos calcanhares à cintura. A casaca do coronel era do mesmo tom azul-celeste das calças, mas ornada de profusas guarnições de prata que subiam para o alto colarinho duro. Sobre o ombro esquerdo, tinha uma peliça, uma espécie de casaco forrado a pele, enquanto em cima de uma mesa se via um sabre de cavalaria e um chapéu alto, preto, com um penacho prateado, fixado por uma chapa esmaltada.
E a placa esmaltada ostentava o tricolor da França.
- Eu bem te disse que ias ficar surpreendido - frisou o coronel para Luís, o qual, de facto, estava a olhar boquiaberto para o patrão.
Luís, por fim, encontrou a voz:
- O senhor é... - mas faltou-lhe de novo a voz.
- Eu sou um oficial inglês, como tu bem sabes, mas este uniforme é o de um hussardo francês. Ah, sopa de grão! Gosto muito de sopa de grão. É comida de camponês, mas é boa. - Dirigiu-se para a mesa, fazendo uma careta porque as calças estavam muito apertadas, e sentou-se. - Vamos ter um convidado para o jantar.
- Foi o que me disseram - disse Luís, friamente.
- Tu vais servir à mesa e não te vais preocupar pelo facto de o meu hóspede ser um oficial francês.
- Francês? - a aversão de Luís soava-lhe na voz.
- Francês, sim - confirmou Christopher -, e vem com uma escolta. Provavelmente com uma grande escolta e não nos interessava nada que essa escolta, ao reunir-se ao seu exército, se pusesse a dizer que o oficial deles se tinha encontrado com um oficial inglês, pois não? Exactamente por isso é que eu vesti isto - disse ele, fazendo um gesto para o uniforme e sorrindo depois para Luís. - A guerra é como o xadrez - continuou Christopher há dois lados e, para um ganhar, o outro tem de perder.
- A França não pode ganhar - disse Luís em tom áspero.
- Há peças brancas e peças pretas - prosseguiu Christopher, ignorando o protesto do criado - e ambas obedecem às mesmas regras. Mas quem é que estabelece essas regras, Luís? Aí é que reside o poder, Não nos jogadores, de modo nenhum nas peças, mas no homem que estabelece as regras.
- A França não pode ganhar - disse de novo Luís. - Qualquer bom português o dirá!
Christopher suspirou, perante a estupidez do criado, e decidiu tornar as coisas mais simples para Luís compreender.
- Queres ver Portugal livre dos franceses?
- Sabe bem que sim!
- Então, serve o jantar esta tarde. Sê cortês, esconde o teu rancor e confia em mim.
Porque Christopher vira a luz e, agora, ia ser ele a estabelecer as regras.
Sharpe tinha o olhar fixo no sítio onde os dragões tinham retirado quatro botes do rio, erguendo com eles uma barricada no meio da estrada. Não havia maneira de rodear a barricada, pois esta estendia-se entre duas casas. Ao lado da casa da direita ficava o rio, ao lado da casa da esquerda era a íngreme colina por onde a infantaria francesa se aproximava e, atrás de Sharpe, havia mais infantaria francesa, de modo que a única maneira de escapar da armadilha era ir directamente contra a barricada.
- O que é que vamos fazer, meu Tenente? - perguntou Harper. Sharpe pôs-se a praguejar.
- Isto está mau, não é? - disse Harper, pegando no rifle que trazia a tiracolo. - Podíamos despachar alguns daqueles homens da barricada.
- Pois podíamos - concordou Sharpe, mas isso apenas iria irritar os dragões, e não derrotá-los.
Ele era capaz de derrotar aqueles franceses, tinha a certeza disso, porque os seus atiradores eram bons e a barricada muito baixa, mas Sharpe também tinha a certeza de que ia perder metade dos seus homens na refrega e de que a outra metade tinha, ainda, de escapar à perseguição de cavaleiros vingativos. Podia lutar e podia vencer, mas podia não sobreviver à vitória.
Havia, na verdade, apenas uma única coisa a fazer, mas Sharpe tinha relutância em dizê-lo em voz alta. Ele nunca se rendera. Só pensar nisso era já horrível.
- Fixar baionetas - gritou ele.
Os homens pareceram surpreendidos, mas obedeceram. Retiraram as compridas espadas das bainhas e encaixaram-nas nos suportes dos rifles. Sharpe empunhou a sua própria espada, uma pesada lâmina de cavalaria, cerca de um metro de aço mortífero.
- Muito bem, rapazes. Quatro colunas!
- Meu Tenente! - exclamou Harper, confundido.
- Ouviu o que eu disse, nosso Sargento! Quatro colunas! E agora, força! Harper gritou as ordens aos homens. A infantaria francesa que viera da cidade estava agora uns cem metros atrás deles, demasiado longe para um tiro de mosquete preciso, embora um dos franceses tivesse tentado um tiro, a bala embatendo na parede caiada de uma vivenda junto à estrada. O som do impacto pareceu irritar Sharpe.
- A duas colunas, agora! - lançou ele. - Avançar!
Correram pela estrada em direcção à recém-erguida barricada, a qual se encontrava uns cento e cinquenta metros à frente deles. O rio corria cinzento e revolto à direita, enquanto à esquerda deles havia um campo salpicado com as medas de feno remanescentes da última colheita, as quais eram pequenas e pontiagudas, fazendo lembrar chapéus de bruxas encharcados. Uma vaca coxa com um corno partido observou-os quando passaram por ela. Alguns fugitivos, perdida a esperança de passarem pela estrada bloqueada, tinham acampado no campo, à espera da sua sorte.
- Meu Tenente! - Harper conseguira apanhar Sharpe, o qual seguia uma dezena de passos à frente dos seus homens.
- O que é, nosso Sargento?
Era sempre ”nosso Sargento”, notou Harper, e não ”Patrick” ou ”Pat”, quando as coisas corriam mal.
- O que é que estamos a fazer, meu Tenente?
- Estamos a carregar aquela barricada, nosso Sargento.
- Eles vão encher-nos de chumbo, se mo permite dizer, meu Tenente. Os sacanas vão virar-nos do avesso.
- Eu sei isso - disse Sharpe - e você sabe isso. Mas será que eles sabem? Harper olhou para os dragões, os quais estavam a erguer as carabinas sobre as quilhas dos botes voltados ao contrário. A carabina, como o mosquete e ao contrário de um rifle, não tinha estrias e, por isso, era pouco precisa, o que queria dizer que os dragões iam esperar até ao último momento para dispararem a descarga e essa descarga prometia ser violenta, pois cada vez mais inimigos de uniforme verde surgiam atrás da barricada a apontarem as armas.
- Eu acho que eles sabem, meu Tenente - observou Harper.
Sharpe estava de acordo, embora não o dissesse. Ordenara aos homens para fixarem baionetas porque, à vista, uma carga com baionetas era mais aterradora do que a ameaça dos simples rifles. Os dragões, porém, não pareciam muito perturbados com a ameaça das lâminas de aço. Estavam a amontoar-se, para que todas as carabinas tomassem parte na descarga inicial e Sharpe sabia que teria de render-se, mas não o queria fazer sem um único tiro ter sido disparado. Acelerou o passo, na convicção de que algum dragão ia disparar para ele demasiado cedo e esse tiro seria o sinal para Sharpe parar, largar a espada e salvar, assim, os seus homens. A decisão era dolorosa, mas era a única opção que tinha, a menos que Deus fizesse um milagre.
- Meu Tenente! - Harper esforçava-se por acompanhar Sharpe. - Eles vão matá-lo!
- Vá lá para trás, nosso Sargento - disse Sharpe. - Isto é uma ordem. Sharpe queria que os dragões disparassem para ele, não sobre os homens.
- Eles vão matá-lo de certeza! - exclamou Harper.
- Talvez eles fujam - gritou Sharpe para trás.
- Deus salve a Irlanda - disse Harper -, e por que raio iriam eles fugir?
- Porque Deus usa uma casaca-verde - rosnou Sharpe.
E, nesse momento, os franceses voltaram-se e fugiram.
Sharpe tivera sempre um pouco de sorte. Talvez não nas coisas mais importantes da vida, certamente não na natureza do seu nascimento do ventre de uma rameira de Cat Lane, a qual morrera sem fazer ao seu único bebé uma única festa, como tão-pouco na maneira como fora criado, num orfanato de Londres que não ligava patavina às crianças que alojava no seu interior severo, mas nas pequenas coisas, naqueles momentos em que o êxito e o fracasso se encontram separados pelo comprimento de uma bala, nesses momentos tinha tido sorte. Fora a boa sorte que o conduzira ao túnel onde o sultão de Tipu ficara encurralado e fora ainda maior sorte a que decapitara o ordenança em Assão, de tal modo que Richard Sharpe se vira a cavalgar atrás de Sir Arthur Wellesley, quando o cavalo do general fora abatido por uma lançada e Sir Arthur derrubado no meio do inimigo. Fora tudo sorte, por vezes uma sorte incrível, mas, mesmo assim, Sharpe não queria acreditar na sua boa sorte quando viu os dragões a abandonarem a barricada. Estaria morto? Estaria a sonhar? Estaria confuso e a imaginar coisas? Entretanto, porém, ouviu os gritos de triunfo dos seus homens e ficou a saber que não estava a sonhar. O inimigo tinha, de facto, virado a cara, Sharpe estava vivo e os seus homens não iam marchar para França como prisioneiros.
Ouviu, então, os tiros, o crepitar gaguejante dos mosquetes e compreendeu que os dragões tinham sido atacados pela retaguarda. Havia fumo espesso a pairar entre as casas à beira da estrada e ainda mais a surgir de um pomar a meio da encosta de uma colina, onde se via a massa branca de um edifício e, entretanto, Sharpe estava junto da barricada, saltando por cima do primeiro bote, o pé a ficar meio colado no alcatrão recentemente espalhado na quilha. Os dragões estavam de costas voltadas para ele, a dispararem para as janelas das casas, mas, então, um homem de uniforme verde voltou-se, viu Sharpe e soltou um grito de alarme. Um oficial surgiu da porta da casa à beira do rio e Sharpe, saltando do bote para a estrada, espetou a comprida espada no ombro do oficial e empurrou-o violentamente contra a parede caiada, na altura em que o dragão que lançara o aviso disparou contra ele. A bala embateu na pesada mochila de Sharpe, quando este aplicava uma joelhada no escroto do oficial. Sharpe voltou-se, então, para o homem que disparara sobre ele. O homem recuava, balbuciando ”non, non”, e Sharpe bateu com a espada de lado na cabeça do homem, fazendo surgir sangue, mas provocando maior dano com o enorme peso da lâmina, de tal modo que o estonteado dragão caiu e foi calcado pelos fuzileiros que saltavam sobre a barricada, atiradores que gritavam por massacre, surdos à ordem de Harper de fazerem uma descarga sobre os dragões.
Dispararam talvez uns três rifles, mas todos os restantes homens prosseguiram na carga, com a intenção de espetarem as baionetas num inimigo que não podia aguentar um ataque frontal e pela retaguarda. Os dragões tinham sido atacados por tropas emboscadas num edifício a uns cinquenta metros da estrada, tropas que se haviam ocultado no edifício e no jardim por detrás dele e os dragões franceses estavam, agora, a ser atacados por ambos os lados. O reduzido espaço entre as casas estava envolto em fumo de pólvora, em alta gritaria e ecoava com os tiros, cheirando a sangue. Os homens de Sharpe combatiam com uma ferocidade que espantava e confundia os soldados franceses. Eram dragões, instruídos para combaterem a cavalo com grandes sabres, não estavam preparados para aquela refrega sangrenta a pé, com atiradores endurecidos por anos de brigas em tabernas e de disputas em casernas. Os fuzileiros de casacas-verdes eram mortíferos em combate corpo-a-corpo e os dragões sobreviventes correram para um pequeno prado junto ao rio, onde haviam deixado os cavalos. Sharpe gritou para os homens, ordenando-lhes que prosseguissem para leste.
- Deixem-nos ir! - gritava ele. - Larga! Larga! - As últimas exclamações tinham mais a ver com a instrução de cães, era a voz de comando para eles largarem uma presa já morta. - Deixem-nos ir! Vamos embora!
Havia infantaria francesa muito perto atrás deles, havia mais cavalaria no Porto e a prioridade de Sharpe era, agora, afastar-se o mais que pudesse da cidade.
- Nosso Sargento!
- Sim, meu Tenente! - gritou Harper, um pouco mais adiante na estrada, puxando o atirador Tongue de cima de um francês.
- Eu estou a matar o sacana, meu Sargento, estou a dar cabo dele!
- O sacana já está morto! Agora, toca a andar!
Uma rajada de tiros de carabina crepitou no meio das casas. Uma mulher berrava incessantemente numa das casas próximas. Um dragão tropeçou numa pilha de redes e de aparelhos de pesca e estendeu-se ao comprido no quintal de uma casa, onde outro soldado francês se encontrava estendido sobre uma pilha de roupa a secar que havia feito cair ao chão ao morrer. Os lençóis brancos estavam vermelhos do sangue dele. Gataker apontou a um oficial que conseguira montar a cavalo, mas Harper empurrou-o para diante.
- Põe-te a correr! Põe-te a correr!
Depois, houve uma chusma de uniformes azuis a aparecerem à esquerda de Sharpe, o qual se voltou de espada erguida, mas viu que eram portugueses.
- São amigos! - gritou ele, para informação dos fuzileiros. - Cuidado que são portugueses!
Eram aqueles soldados portugueses que o tinham salvo de uma rendição vergonhosa e que, agora, depois de terem atacado os soldados franceses, se juntavam aos homens de Sharpe na retirada para leste.
- Ponham-se a mexer! - berrava Harper.
Alguns dos homens estavam ofegantes e estavam a abrandar o andamento para passo de passeio, quando uma descarga de carabinas dos dragões sobreviventes os fez açodarem-se de novo. A maior parte dos tiros foram demasiado altos, mas um deles embateu na estrada junto de Sharpe, ricocheteando para um choupo, um outro atingindo Tarrant na coxa. O atirador foi ao chão, berrando, e Sharpe agarrou-o pelo colarinho e continuou a correr, arrastando Tarrant com ele. A estrada e o rio derivavam para a esquerda e, um pouco mais adiante, havia umas árvores e uns arbustos à beira do rio. O pequeno bosque não ficava longe, antes se situava demasiado perto da cidade para constituir uma segurança, mas iria proporcionar uma protecção, enquanto Sharpe organizava os seus homens.
- Para as árvores! - gritou Sharpe. - Vamos para as árvores! Tarrant estava aflito, protestando aos gritos e a deixar um rasto de sangue na estrada. Sharpe puxou-o para debaixo das árvores e largou-o no chão, depois foi à berma da estrada e ordenou aos homens para se postarem numa linha à beira do bosque.
- Conte-os, nosso Sargento - gritou ele para Harper -, conte-os!
A infantaria portuguesa misturara-se com os fuzileiros ingleses e come-çara a recarregar os mosquetes. Sharpe agarrou no rifle que trazia a tiracolo e disparou para um cavaleiro que se encontrava à beira-rio, preparado para a perseguição. O cavalo recuou, deitando o cavaleiro ao chão. Havia outros dragões de espada desembainhada, na evidente intenção de uma perseguição vingativa, mas, entretanto, apareceu um oficial francês gritando à cavalaria para permanecer onde estava. Ele, pelo menos, compreendera que uma carga por entre as árvores, onde se encontrava infantaria de armas carregadas e prontas era puro suicídio. Era melhor esperar pela sua infantaria para atacar.
Daniel Hagman sacou da tesoura com que cortara o cabelo de Sharpe e abriu as calças de Tarrant junto à ferida da coxa. O sangue escorria à medida que Hagman cortava o tecido.
- Acho que ele perdeu a rótula, meu Tenente - disse Hagman, com uma careta.
- E não pode andar?
- Nunca mais vai poder andar - disse Hagman.
Tarrant praguejou desalmadamente. Ele era um dos homens mais conflituosos de Sharpe, um resmungão do Hertfordshire que não perdia uma oportunidade de se embebedar e de armar sarilhos, mas, quando sóbrio, era um hábil atirador que nunca perdia a cabeça em combate.
- Tu vais ficar bem, Ned - disse-lhe Hagman. - Vais viver.
- Leva-me tu - apelou Tarrant para o amigo, Williamson.
- Vamos deixá-lo aqui! - disse Sharpe. - Tirem-lhe o rifle, as munições e a espada.
- Não o pode deixar aqui - disse Williamson, interpondo-se entre Tarrant e Hagman, para que este não desapertasse a bolsa de munições do amigo. Sharpe agarrou Williamson pelo ombro e afastou-o.
- Eu disse que o vamos deixar aqui!
Não lhe agradava fazê-lo, mas não podia abrandar a marcha com o peso de um homem ferido e os franceses podiam tratar de Tarrant muito melhor do que os seus homens. O atirador iria parar a um hospital francês, seria tratado por médicos franceses e, se não morresse de gangrena, seria, muito possivelmente, trocado por um prisioneiro francês. Tarrant regressaria à pátria aleijado e acabaria, provavelmente, num asilo.
Sharpe procurou Harper por entre as árvores. Balas de carabina embatiam nos ramos, espalhando folhas em pedaços que caíam no chão, peneiradas pelos raios de sol.
- Falta alguém? - perguntou Sharpe a Harper.
- Não falta ninguém, meu Tenente. O que é que aconteceu a Tarrant?
- Uma bala no joelho - disse Sharpe. - Temos de o deixar aqui.
- Não vou ter saudades dele - disse Harper.
Embora o irlandês, antes de Sharpe o ter feito sargento, fosse grande amigo dos desordeiros, de que Tarrant era chefe, Harper, agora, era o flagelo deles. Era estranho, reflectia Sharpe, o que três divisas podiam fazer a um homem.
Sharpe recarregou o rifle, ajoelhou junto de um loureiro, armou o cão da arma e apontou-a aos franceses. A maior parte dos dragões já tinha montado, embora houvesse ainda uns tantos de pé, a tentarem a sorte com as carabinas, mas fora de alcance. Dentro de minutos, porém, pensou Sharpe, iam ter uma centena de soldados de infantaria, prontos a atacar. Era altura de escapar dali.
- Senhor... - um muito jovem oficial português surgiu ao lado da árvore e fez uma vénia para Sharpe.
- Agora não! - Sharpe não gostava de ser grosseiro, mas não era altura de estar com cortesias. - Dan! - gritou ele para Hagman, passando pelo oficial português. - Temos o material de Tarrant?
- Tenho-o aqui, meu Tenente.
Hagman tinha o rifle do ferido ao ombro e a cartucheira a balançar-lhe do cinto. Sharpe não queria permitIr aos franceses apoderarem-se de um rifle Baker, já provocavam bastantes danos sem possuírem a melhor arma ao dispor de um atirador.
- Por aqui! - ordenou Sharpe, tomando o sentido norte e afastando-se do rio.
Abandonou deliberadamente a estrada. Esta acompanhava o rio e as pastagens abertas da margem do Douro opunham poucos obstáculos à cava-laria perseguidora, Uma pequena vereda, porém, serpenteava para norte, pelo meio das árvores, e foi por aí que Sharpe seguiu, utilizando o terreno arborizado para cobrir a retirada. À medida que o terreno subia, as árvores escasseavam, formando matas de sobreiros, cuja casca era a cortiça de que eram feitas as rolhas para as garrafas de vinho do Porto. Sharpe caminhava a passo estugado e só parou passada meia hora, quando chegaram ao sobreiral, sobranceiro a um grande vale de vinhedos. Ainda se via a cidade a oeste, o fumo dos inúmeros incêndios a pairar por cima das árvores e dos vinhedos. Os homens puseram-se a descansar. Sharpe receara uma perseguição, mas os franceses, obviamente, queriam saquear as casas do Porto e encontrar as mulheres mais bonitas, nada interessados em perseguir uma mancheia de soldados que fugiam para as montanhas.
Os soldados portugueses tinham acompanhado a marcha dos fuzileiros e o oficial português, que já antes tentara falar com Sharpe, aproximou-se dele de novo. Era muito jovem, muito alto e muito magro, envergando o que parecia ser um uniforme novinho em folha. A espada pendia-lhe de um talabarte a tiracolo, debruado a prata, e trazia à cintura uma pistola tão brilhante que Sharpe desconfiou que nunca fora disparada. Era bem-parecido, excepto pelo bigode demasiado fino, a sua atitude indiciando que se tratava de um cavalheiro e um cavalheiro honesto, dado que os inteligentes olhos pretos exprimiam uma certa mágoa, o que não era de surpreender, pois acabava de ver a cidade do Porto cair nas mãos dos invasores. O jovem oficial inclinou-se perante Sharpe.
- Senhor?
- Eu não falo português - disse Sharpe.
- Eu sou o tenente Vicente - disse o oficial em bom inglês.
O uniforme azul-escuro era orlado a branco e decorado com botões prateados, punhos vermelhos e colarinho alto também vermelho. Usava uma barretina, um quépi com uma frente falsa, a qual acrescentava uns bons centímetros à sua já considerável altura. Na placa de latão da barretina estava gravado o número 18. Estava ofegante, o suor a escorrer-lhe pela cara, mas conservava as suas boas maneiras.
- Quero congratulá-lo, caro senhor.
- Congratular-me?
Sharpe não compreendia.
- Eu estava a observá-lo, na estrada junto ao seminário, e julgava que ia render-se, Mas, em vez disso, atacou valentemente a barricada. - Isso foi...
- Vicente fez uma pausa, franzindo a testa em busca da palavra adequada foi de uma grande coragem - prosseguiu ele, depois embaraçando Sharpe, ao tirar a barretina e ao inclinar-se outra vez. - E eu convenci os meus homens a atacarem os franceses, porque a sua coragem bem o merecia.
- Eu não estava a ser corajoso - disse Sharpe -, mas apenas estúpido.
- Não, o senhor foi corajoso - insistiu Vicente - e nós queremos saudá-lo por isso.
Por um momento, pareceu ter a intenção de recuar com elegância, de desembainhar a espada e de erguer a lâmina numa saudação formal, mas Sharpe conseguiu adiantar-se ao floreado com uma pergunta a respeito dos homens de Vicente.
- São trinta e sete - respondeu o jovem oficial em tom sério - e pertencemos ao décimo oitavo regimento, o segundo do Porto.
O regimento, disse ele, tinha estado a defender as paliçadas improvisadas, nos limítrofes ao norte da cidade, e retirara para a ponte, onde se dissolvera no pânico. Vicente dirigira-se para leste, acompanhado por aqueles trinta e sete homens, dos quais apenas dez pertenciam à sua companhia.
- Éramos mais, muitos mais - confessou ele -, mas a maioria fugiu. Um dos meus sargentos disse-me que eu era um louco por querer salvá-lo e tive de lhe dar um tiro, para evitar que ele espalhasse... como é que se diz? Desesperança? Não, desespero e, depois, conduzi estes voluntários em seu auxílio.
Por momentos, Sharpe ficou apenas de olhos fixos no tenente português.
- O que é que você fez? - perguntou, por fim, Sharpe.
- Comandei estes homens para lhe prestar ajuda. Eu sou o único oficial que resta da minha companhia, por isso, quem mais é que podia tomar a decisão? O capitão Rocha foi morto por uma bala de canhão no reduto e os outros não sei o que lhes aconteceu.
- Não - disse Sharpe -, antes disso. Você disse que deu um tiro no sargento?
Vicente fez que sim com a cabeça.
- Vou ter de ir a julgamento, é claro. Vou declarar que foi por absoluta necessidade. - Tinha lágrimas nos olhos. - Mas o sargento disse que vocês eram todos homens mortos e que nós éramos os vencidos. Estava a convencer os homens a esconderem os uniformes e a desertarem.
- Você fez o que devia fazer - disse Sharpe, espantado.
- O senhor lisonjeia-me - disse Vicente com nova vénia.
- E deixe-se de me tratar por senhor - disse Sharpe. - Eu sou um tenente, como você.
Vicente recuou meio passo, incapaz de esconder a sua surpresa.
- É um... - começou ele a perguntar, logo se apercebendo de que a pergunta era descortês.
Sharpe era mais velho do que ele, talvez uns dez anos, e se Sharpe era ainda tenente, então, presumivelmente, não era bom militar, pois um bom militar, aos trinta anos, já devia ter alcançado um posto mais elevado.
- Mas tenho a certeza, senhor - prosseguiu Vicente -, que é mais antigo do que eu.
- Talvez não seja - disse Sharpe.
- Eu sou tenente há quinze dias - disse Vicente. Foi a vez de Sharpe ficar surpreendido.
- Há quinze dias?
- Tive alguma instrução antes disso, claro - disse Vicente -, e durante os meus estudos, li as proezas dos grandes generais.
- Durante os estudos?
- Sim, eu sou advogado.
- Advogado!
Sharpe não conseguiu esconder o desprezo instintivo. Nascera nos esgotos da Inglaterra e, como toda a gente nascida e criada nesses esgotos, sabia que muita da perseguição e da opressão que sofriam era infligida pelos advogados. Os advogados eram os lacaios do diabo que enviavam homens e mulheres para as prisões, eram os vermes que davam ordens aos beleguins, montavam ciladas com as leis, ficavam ricos à custa das vítimas e, quando já eram bastante ricos, tornavam-se políticos, para poderem arquitectar novas leis que os tornassem ainda mais ricos.
- Eu detesto advogados - rosnou Sharpe com genuína violência, pois recordava-se de Lady Grace e do que acontecera depois de ela morrer, como os advogados o tinham espoliado de tudo o que juntara, e a recordação de Grace e do bebé que ela perdera trouxe-lhe à memória toda a antiga desgraça que fizera por esquecer. - Eu odeio advogados! - exclamou Sharpe.
Vicente ficou tão confundido com a hostilidade de Sharpe que pareceu, muito simplesmente, ignorá-la.
- Eu era advogado - disse ele - antes de pegar na espada para defender o meu país. Trabalhava para a Real Companhia Velha, que se encarrega da regulação do comércio do vinho do Porto.
- Se eu tivesse um filho que quisesse ser advogado - disse Sharpe estrangulava-o com as minhas próprias mãos e mijava-lhe na sepultura.
- Quer dizer que é casado? - perguntou Vicente, polidamente.
- Não, não sou nada casado.
- Então, compreendi mal - disse Vicente, apontando, depois, para a sua tropa. - Portanto, aqui estamos, senhor, e eu pensei que podíamos juntar as nossas forças.
- Talvez - resmungou Sharpe - mas que uma coisa fique clara: se detém o seu posto há quinze dias, eu sou o mais antigo e sou eu que comando. E que nenhum raio de um advogado se ponha a questionar isso.
- Sem dúvida, senhor - disse Vicente, franzindo o sobrolho, como que ofendido por Sharpe se pôr a afirmar o que era óbvio.
Um raio de um advogado, pensou Sharpe, raio de sorte. Apercebia-se de que tinha sido mal-educado, especialmente porque aquele advogado cortês tinha tido a coragem de matar um sargento e de se pôr à frente dos seus homens para lhe salvar a pele. Sabia que lhe devia pedir desculpa, mas, em vez disso, pôs-se a olhar para sudoeste, tentando aperceber-se da região, em busca de indícios de perseguição e perguntando-se onde raio estaria. Pegou no seu belo óculo, o qual fora um presente de Sir Arthur Wellesley, e apontou-o na direcção donde tinham vindo, observando por cima das árvores, e por fim, viu o que esperava ver. Pó. Uma mancha de pó, levantado por cascos, botas ou rodas. Podiam ser fugitivos a correr para leste, na estrada que ladeava o rio, ou podiam ser os franceses. Sharpe não o sabia dizer.
- Quer passar para sul do Douro? - perguntou Vicente.
- Sim, é isso que quero. Mas não há pontes nesta parte do rio, pois não?
- Não, aqui não. Só em Amarante - disse Vicente - que fica no rio Tâmega. É um rio... como e que se diz? Um rio secundário? É isso, um afluente do Douro, mas, passado o rio Tâmega, há uma ponte sobre o Douro, no Peso da Régua.
- E os Sapos não estarão do lado de lá do Tâmega? Vicente abanou a cabeça.
- Fomos informados de que o general Silveira se encontra lá.
Ser informado de que um general português aguardava do outro lado de um rio não era o mesmo que saber isso, pensou Sharpe.
- E não há uma barcaça para atravessar o Douro, perto daqui - perguntou Sharpe.
- Há, sim, em Barca de Avintes - disse Vicente.
- A que distância?
Vicente pensou um curto momento.
- A cerca de meia hora, talvez menos.
- Tão perto? - Se a barcaça ficava tão perto do Porto, então os franceses podiam já lá estar. - E a que distância fica Amarante?
- Podemos lá chegar amanhã.
- Amanhã! - repetiu Sharpe, recolhendo o óculo.
Tornou a olhar para sul. Seria aquele pó provocado pelos franceses? Estariam eles a caminho de Barca de Avintes? Queria utilizar a barcaça, já que estava tão perto, mas era, também, muito maior o risco. Não estariam os franceses a prever que os fugitivos quisessem utilizar a barcaça? Ou talvez os invasores não soubessem da sua existência. Só havia uma maneira de saber isso.
- Como é que se vai para Barca de Avintes? - perguntou ele a Vicente, apontando para a vereda que passava pelo meio dos sobreiros. - É por onde viemos?
- Há um caminho mais rápido - disse Vicente.
- Então leve-nos lá.
Alguns dos homens estavam a dormir, mas Harper acordou-os aos pontapés e todos seguiram Vicente encosta abaixo, para um vale de vinhedos rigorosamente arrumados em filas. Desse vale subiram a outra montanha, caminhando por campos salpicados com as pequenas medas da última colheita. O chão estava coberto de flores, as quais cobriam, também, os ”chapéus de bruxas” das medas e as cercas. Não havia nenhuma vereda, mas Vicente conduzia os homens confiadamente.
- Sabe bem para onde vamos? - perguntou Sharpe, suspeitoso, passado um bocado.
- Eu conheço muito bem esta região - afirmou Vicente.
- Nasceu aqui, foi isso?
Vicente abanou a cabeça.
- Não, eu nasci em Coimbra, muito mais a sul, mas conheço esta região porque pertenço... - fez uma pausa e corrigiu-se - pertencia a uma associação que dava passeios por aqui.
- Uma associação que dá passeios no campo? - perguntou Sharpe, admirado.
Vicente ficou ruborizado.
- Nós somos filósofos e poetas.
Sharpe estava demasiado surpreendido para ripostar de imediato, mas, por fim, conseguiu perguntar:
- São o quê?
- Filósofos e poetas.
- Santo Deus! - exclamou Sharpe.
- Acreditamos, caro senhor - prosseguiu Vicente -, que a paisagem campestre nos inspira. O campo, bem vê, é natural. Enquanto que as cidades são feitas pelos homens e, por isso, albergam toda a maldade humana. Se queremos encontrar a nossa bondade natural, temos, pois, de procurá-la no campo. - Vicente tinha dificuldade em encontrar os termos correctos em inglês para exprimir o que queria dizer. - Existe, acho eu - insistiu ele -, uma bondade natural no mundo e é isso que nós procuramos.
- Por isso, vinham para aqui em busca de inspiração?
- Exactamente - disse Vicente, aquiescendo vivamente com a cabeça. Proporcionar inspiração a um advogado, pensou Sharpe amargamente, era o mesmo que dar a beber uma boa aguardente a um rato.
- E deixe-me ver se adivinho - disse ele, mal disfarçando o sarcasmo. Ia jurar que a vossa associação de filósofos rimadores é toda constituída por homens, Nem uma única mulher, pois não?
- Como é que sabe? - perguntou Vicente, admirado.
- Já lhe disse, adivinhei.
Vicente aquiesceu.
- Não é que não gostemos de mulheres. Não pense que não desejamos a companhia delas, só que as mulheres são muito relutantes em se juntarem a nós. Seriam muito bem-vindas, mas... - a voz dele desvaneceu-se.
- As mulheres são mesmo assim - disse Sharpe.
As mulheres, achava ele, preferiam a companhia dos aldrabões ao prazer da conversa com jovens sérios e honestos, como o tenente Vicente, que tinha ideias românticas acerca do mundo e que deixara crescer o bigode obviamente numa tentativa de aparentar mais idade e parecer mais sofisticado, com o único resultado de parecer ainda mais novo do que era.
- Diga-me uma coisa, Tenente... - começou Sharpe.
- Jorge - interrompeu-o Vicente -, o meu nome é Jorge. Como o vosso santo.
- Diga-me, então, uma coisa, Jorge. Disse-me que teve alguma instrução como soldado. Que gênero de instrução foi essa?
- Tive lições no Porto.
- Lições?
- Sim, aulas de história das guerras. Acerca de Aníbal, de Alexandre e de Júlio César.
- Instrução livresca? - perguntou Sharpe, não disfarçando o menosprezo.
- Instrução livresca - disse Vicente abertamente - é uma coisa natural para um advogado e, mais ainda, para um advogado que lhe salvou a vida, caro Tenente.
Sharpe engoliu em seco, reconhecendo que merecia aquela reprimenda.
- O que é que aconteceu lá atrás, quando me salvou? - perguntou ele. já sei que deu um tiro num dos seus sargentos, mas porque é que os dragões franceses não o ouviram?
- Ah! - Vicente franziu a testa, a pensar. - Vou ser honesto, caro Tenente, e digo-lhe que não foi tudo mérito meu. Eu já tinha dado o tiro no sargento quando o vi a si. Ele estava a dizer aos homens para despirem as fardas e fugirem. Alguns fizeram-no e os outros não me davam ouvidos e, então, eu dei-lhe um tiro. Foi muito triste. E a maior parte dos homens estava na taberna, junto ao rio, muito perto do local onde os franceses ergueram a barricada. - Sharpe não vira nenhuma taberna, estivera demasiado concentrado em tentar salvar os homens dos dragões para a ver. - Foi, então, que eu o vi a avançar para a barricada. O sargento Macedo - Vicente apontou para um homem baixo e entroncado, de tez escura, meio embaraçado, atrás dele queria ficar escondido na taberna, mas eu disse aos homens que era altura de combater por Portugal. Muitos pareciam não me ouvir, por isso, puxei da pistola e corri para a estrada. Pensava que ia morrer, mas pensava, também, que tinha de dar o exemplo.
- E os seus homens seguiram-no?
- Assim foi - disse Vicente, caloroso - e o sargento Macedo bateu-se muito corajosamente.
- Acho que - disse Sharpe - para além de ser um raio de um advogado, você é um soldado notável.
- Acha que sim?
O jovem português parecia admirado, mas Sharpe sabia que era necessário ter qualidades naturais de chefia para fazer sair homens de uma taberna, para se irem bater com um numeroso grupo de dragões.
- Todos os seus companheiros filósofos e poetas se alistaram? - perguntou Sharpe.
Vicente ficou embaraçado.
- Infelizmente, alguns juntaram-se aos franceses.
- Aos franceses!
O tenente encolheu os ombros.
- Há quem acredite, caro senhor, que o futuro da humanidade é apontado pelo pensamento francês. Pelas ideias francesas. Em Portugal, acho eu, estamos muito voltados para o passado e, reagindo a isso, muita gente é influenciada pelos filósofos franceses, os quais rejeitam a Igreja e os velhos costumes. Eles detestam a monarquia e são contra os privilégios. As ideias deles são fascinantes. já os leu?
- Não - disse Sharpe.
- Eu, porém, amo mais a minha pátria do que amo Monsieur Rosseau disse Vicente tristemente. - Por isso optei por ser um soldado em vez de um poeta.
- Fez muito bem - disse Sharpe -, é sempre melhor fazer alguma coisa útil na vida.
Ultrapassaram uma pequena elevação do terreno e Sharpe viu o rio à sua frente, uma pequena aldeia à beira dele.
- Aquilo é Barca de Avintes? - perguntou ele a Vicente.
- É, sim - disse Vicente.
- Raisparta! - exclamou Sharpe amargamente, pois os franceses já lá estavam.
O rio encoracolava mansamente no sopé de umas montanhas com laivos azuis. Entre Sharpe e o rio havia prados, vinhas, a pequena aldeia e um riacho fluindo para o rio e para o raio dos franceses. Mais dragões. Os cavaleiros de uniforme verde tinham desmontado e passeavam-se pela aldeia com ar despreocupado. Sharpe, deitando-se no chão por detrás de uns tojos, ordenou aos homens que se baixassem.
- Sargento! Ordem de combate ao longo da crista!
Deixou Harper entregue à tarefa de colocar os fuzileiros em posição e, puxando do óculo, pôs-se a observar o inimigo.
- O que é que vai fazer? - perguntou Vicente.
- Por ora, vou esperar - disse Sharpe.
Focou o óculo, maravilhado com a nitidez da imagem aumentada. Conseguia ver os furos nas correias das cilhas dos cavalos dos dragões, os quais estavam reunidos numa pequena cerca, a oeste da aldeia. Contou os cavalos. Quarenta e seis. Talvez mesmo quarenta e oito. Era difícil contá-los, porque alguns dos animais estavam presos juntos. Digamos cinquenta homens. Dirigiu o óculo para a esquerda e viu fumo a subir por detrás da aldeia, talvez da margem do rio. Uma pequena ponte de pedra atravessava o riacho que corria do norte. Não via aldeãos. Teriam fugido? Olhou para oeste, para a estrada que vinha do Porto e não enxergou mais franceses, o que sugeria que os dragões constituíam uma patrulha para acossar fugitivos.
- Pat!
- Meu Tenente?
Harper aproximou-se e agachou-se junto de Sharpe.
- Vamos apanhar aqueles sacanas.
Harper pegou no óculo que Sharpe lhe estendia e apontou-o para sul, um bom minuto.
- São uns quarenta? Uns cinquenta?
- À volta disso. Certifique-se de que os homens estão bem municiados. Sharpe deixou o óculo nas mãos de Harper e rastejou, recuando, em busca de Vicente.
- Reúna aqui os seus homens. Quero falar com eles. Você vai traduzir. Sharpe esperou até todos os vinte e sete homens estarem presentes. Muitos pareciam incomodados, provavelmente por se verem comandados por um estrangeiro.
- Eu chamo-me Sharpe - disse ele aos soldados de uniforme azul. Sou o tenente Sharpe e sou militar há dezasseis anos.
Esperou que Vicente traduzisse, depois apontou para o soldado português que lhe pareceu mais jovem, um miúdo que nem dezassete anos devia ter e que podia, até, ser uns três anos mais novo.
- Eu peguei num mosquete antes de tu teres nascido. E peguei num mosquete mesmo a valer. Era um soldado como tu.
Vicente traduziu, lançando um olhar surpreendido a Sharpe, que o ignorou.
- Combati na Flandres - continuou ele -, combati na índia, combati em Espanha, combati em Portugal e nunca perdi um combate. Nunca.
Os portugueses tinham acabado de ser escorraçados do grande reduto norte, na frente do Porto, uma derrota ainda amarga, e estava ali aquele homem a dizer-lhes que era invencível. Alguns olharam para a cicatriz que Sharpe tinha na cara, para a dureza do olhar e acreditaram nele.
- Agora, eu e vocês vamos combater juntos - continuou Sharpe - e isso quer dizer que vamos vencer. Vamos correr com os malditos franceses para fora de Portugal! - Alguns deles sorriram. - Não se preocupem com o que aconteceu hoje. A culpa não foi vossa. Vocês estavam a ser comandados por um bispo! De que serve um bispo? É o mesmo que combater com um advogado.
Vicente, antes de traduzir, lançou um olhar rápido e reprovador a Sharpe, mas devia ter traduzido correctamente, pois os homens fizeram má cara a Sharpe.
- Vamos correr com eles para França - prosseguiu Sharpe - e, por cada português ou inglês que eles matem, vamos matar uma data deles. Uns tantos dos soldados portugueses bateram com as coronhas dos mosquetes no chão, exprimindo a sua aprovação.
- Antes de nos batermos, porém - continuou Sharpe -, é preciso que saibam que eu tenho três regras e é conveniente que se habituem a elas desde já. Porque, se algum de vocês quebrar essas regras, então eu, Deus me perdoe, vou parti-lo ao meio.
Vicente parecia nervoso, ao traduzir a última frase. Sharpe esperou e, depois, ergueu um dedo.
- Não se vão embebedar sem a minha autorização. - Segundo dedo. Não roubam nada a ninguém, a não ser para comer, se estiverem cheios de fome. Mas não considero roubo tirar coisas ao inimigo. - Houve sorrisos. Sharpe ergueu, então, o terceiro dedo. - E vocês vão lutar como se o próprio diabo os perseguisse. É isto! Não se embebedam, não roubam e lutam como demónios. Compreenderam?
Depois da tradução, os homens inclinaram a cabeça, dizendo que sim.
- E, agora - prosseguiu Sharpe -, vamos mesmo começar o combate. Vocês vão formar três filas e vão disparar uma descarga sobre a cavalaria francesa.
Ele preferiria duas filas, mas só os ingleses combatiam em duas filas, todos os outros exércitos utilizavam três e por isso, de momento, também ele as ia utilizar, embora trinta e sete homens em três filas constituíssem uma frente muito pequena.
- E não puxam o gatilho enquanto o tenente Vicente não vos der ordem de abrir fogo. Podem confiar nele! É um bom soldado, o vosso tenente! Vicente corou e, acaso, modestamente, fez algumas alterações na tradução, mas os sorrisos nas caras dos homens indicavam que o advogado transmitira o essencial das palavras de Sharpe.
- Certifiquem-se de que têm os mosquetes carregados - disse Sharpe - mas não armem o cão. Não quero que o inimigo saiba que estamos aqui, só porque um tonto dispara um mosquete com o cão armado. Agora, divirtam-se a matar aqueles sacanas.
Com este apontamento sanguinário, Sharpe afastou-se e dirigiu-se para a crista, ajoelhando ao lado de Harper.
- O que é que eles estão a fazer? - perguntou, apontando os dragões com a cabeça.
- Estão a embebedar-se - disse Harper. - Esteve a ler-lhes a cartilha, não foi?
- Qual cartilha?
- Não bebam, não roubem e lutem como demónios. O sermão de Mister Sharpe.
Sharpe sorriu e, pegando no óculo das mãos do sargento, apontou-o para a aldeia, onde um grupo de dragões, de uniforme desabotoado, entornavam borrachas de vinho garganta abaixo. Outros faziam buscas nas casas. Uma mulher, de vestido preto rasgado, saiu de uma das casas a correr, sendo agarrada por um dragão e arrastada lá para dentro,
- Pensava que os habitantes tinham fugido - disse Sharpe.
- Eu já vi várias mulheres - disse Harper - e há, decerto, muitas mais escondidas. - Harper passou a mão enorme sobre o fecho da arma. - E, agora, o que é que vamos fazer?
- Agora, vamos mijar-lhes para cima - disse Sharpe - até se decidirem a correr connosco e, então, vamos matá-los.
Recolheu o óculo e disse a Harper como é que planeava derrotar os dragões.
Os vinhedos proporcionavam a oportunidade a Sharpe. As vides cresciam em filas espessas e apertadas, a partir do riacho à esquerda deles, até um terreno arborizado, para oeste. As filas estavam separadas por uma passagem que permitia o acesso dos trabalhadores às plantas, as quais ofereciam uma densa cobertura aos homens de Sharpe, ao arrastarem-se na direcção de Barca de Avintes. Duas sentinelas francesas estavam postadas à entrada da aldeia, mas nenhuma enxergava nada ameaçador na primaveril paisagem campestre, uma delas tendo, até, largado a carabina para encher o cachimbo de tabaco. Sharpe colocou os homens de Vicente próximo da passagem no meio da vinha e mandou os seus atiradores para oeste, de forma a ficarem mais próximos do local onde se encontravam presos os cavalos. Depois, armou o rifle, estendeu-se no chão, de modo que o cano apontava por entre as vides retorcidas e visou a sentinela mais próxima.
Disparou, a coronha embateu-lhe no ombro e o som do tiro ainda ecoava nas paredes das casas quando os fuzileiros começaram a disparar sobre os cavalos. A primeira descarga abateu seis ou sete dos animais, feriu outros tantos e provocou o pânico nos restantes. Dois conseguiram arrancar as peias do chão e saltaram a cerca, na tentativa de escaparem, mas, depois, voltaram para junto dos companheiros, à medida que os rifles iam sendo recarregados e de novo disparados. Mais cavalos relinchavam e caíam. Uma meia-dúzia de atiradores vigiava a aldeia e começaram a disparar quando os dragões correram para os cavalos.
A infantaria de Vicente continuava escondida no meio da vinha. Sharpe viu que a sentinela que tinha atingido se arrastava pela rua da aldeia, deixando um rasto de sangue atrás de si e, quando o fumo do primeiro tiro se dissipou, disparou de novo, desta vez para um oficial que corria para os cavalos. Cada vez mais dragões, temendo perderem as preciosas montadas, corriam para soltarem os animais e os fuzileiros começaram a abater homens, tanto como cavalos. Uma égua ferida relinchava lamentosamente. O comandante dos dragões compreendeu que não podia salvar os cavalos enquanto não neutralizasse os homens que os estavam a massacrar e, por isso, gritou para os dragões que avançassem para a vinha e escorraçassem os atacantes.
- Continuem a atirar para os cavalos! - gritava Sharpe.
Não era tarefa agradável. Os relinchos dos animais feridos atormentava a alma dos homens e a visão de um castrado a tentar arrastar-se nas patas dianteiras era de partir o coração. Sharpe, porém, manteve os homens a disparar. Os dragões, entretanto poupados ao fogo dos rifles, correram para a vinha, na convicção de que tinham pela frente um mero bando de guerrilheiros. Os dragões eram considerados uma infantaria montada, sendo-lhes distribuídas carabinas, ou seja, mosquetes de cano curto, com as quais podiam combater a pé. Alguns levavam as suas carabinas, mas outros preferiam combater com as compridas espadas, todos, porém, correram instintivamente para a passagem que subia a colina por entre a vinha. Sharpe adivinhara que eles iriam seguir pela passagem, em vez de saltarem por cima das emaranhadas videiras, e fora por isso que colocara Vicente com os seus homens próximo dela. Os dragões estavam a correr todos para a vinha e Sharpe sentiu o impulso de correr para ir comandar os portugueses, mas nesse preciso momento Vicente deu ordem aos seus homens para se erguerem.
Como que por magia, os soldados portugueses surgiram em frente dos desorganizados dragões. Sharpe observava, com ar aprovativo, vendo que Vicente aguardara que os homens tomassem posição, para então dar a ordem de abrir fogo. Os franceses tentaram refrear a carga desesperada, derivando para os lados, mas as videiras obstruíam-nos, de modo que a descarga de Vicente atingiu o grosso dos dragões, amontoados na estreita passagem. Harper, mais afastado no flanco direito, ordenou aos fuzileiros para abrirem fogo também, de modo que os dragões se viam atacados de ambos os lados. O fumo da pólvora pairava por sobre a vinha.
- Fixar baionetas! - gritou Sharpe.
Uma dezena de dragões foi abatida e os que se encontravam por trás desses já estavam a fugir. Tinham pensado que se batiam contra um grupo de camponeses indisciplinados e, em vez disso, enfrentavam um número superior de verdadeiros soldados, o centro da sua improvisada frente tinha sido destroçado, metade dos cavalos tinham sido abatidos e, agora, a infantaria surgia do meio do fumo de baioneta calada. Os portugueses saltavam por cima dos mortos e dos dragões feridos. Um francês, ferido na coxa, virou-se com uma pistola na mão e Vicente desarmou-o com uma espadeirada, pontapeando depois a pistola para o riacho. Os dragões ilesos corriam para os cavalos e Sharpe ordenou aos fuzileiros para os afastarem a tiro, que não a baioneta.
- Façam-nos correr! - gritava ele. - Façam-nos entrar em pânico! Tenente! - chamou, procurando Vicente. - Leve os seus homens para a aldeia! Cooper! Tongue! Slattery! Tornem esses sacanas inofensivos!
Sabia que tinha de manter os dragões a fugir, mas não podia deixar feridos ligeiros atrás de si e, por isso, ordenara aos três homens para desarmarem os dragões feridos pela descarga de Vicente. Os portugueses já estavam na aldeia, abrindo as portas das casas e convergindo para a igreja, a qual ficava junto à ponte que atravessava o riacho.
Sharpe correu para a cerca onde estavam os cavalos, uns mortos, outros a morrer e os restantes aterrados. Alguns dragões tinham conseguido soltar as montadas, mas o fogo dos fuzileiros tinham-nos feito fugir. Portanto, Sharpe tinha agora à disposição um certo número de cavalos.
- Dan! - chamou ele por Hagman. - Acaba com os cavalos feridos. Pendleton! Harris! Cresacre! Acolá! - apontou aos três homens o muro da cerca, do lado oeste.
Os dragões haviam fugido por aquele lado e Sharpe pensava que eles se tinham refugiado num maciço de árvores a uns cem metros da cerca. O reduzido piquete não bastava para enfrentar sequer um pequeno contra-ataque por parte dos franceses e Sharpe sabia que tinha de o reforçar bem depressa, mas, primeiro, queria certificar-se de que não havia dragões escondidos covardemente nas casas, nos jardins e nos pomares.
Barca de Avintes era uma pequena povoação, uma série de casas desgarradas, erguidas à beira da estrada que conduzia ao rio, onde se via um pequeno molhe que devia servir de ancoradouro à barcaça, mas algum do fumo que antes Sharpe enxergara provinha de um barco grande, com uma proa larga e uma dúzia de entalhes para remos. Fumegava agora na água, a parte superior ardida quase até à linha de água, o fundo esburacado e alagado. Sharpe olhou para o barco inútil, olhou para o rio, o qual tinha ali mais de cem metros de largura, e depois praguejou.
Harper apareceu junto dele, o rifle na mão.
- Meu Deus! - exclamou ele, o olhar fixo na barcaça. - Isto não serve para nada, nem para ninguém. E agora?
- Algum dos homens está ferido?
- Nenhum, meu Tenente, nem um arranhão. O mesmo se passa com os portugueses, estão todos vivos. Portaram-se bem, não portaram? - disse ele, tornando a olhar para o barco queimado. - Santo Deus, isto era a barcaça?
- Era o raio da barca de Noé - lançou Sharpe. - Que raio é que pensava que era?
Estava danado porque esperava utilizar a barcaça para atravessar o Douro com os seus homens e agora via-se ali encalhado. Afastou-se dali, mas depois voltou-se, a tempo de ver que Harper lhe fazia uma careta.
- Já descobriu as tabernas? - perguntou ele, ignorando a careta de Harper.
- Ainda não, meu Tenente - respondeu Harper.
- Descubra-as e ponha-lhes guarda à porta, e mande uma dúzia de homens para o lado de lá da cerca.
- Sim, meu Tenente.
Os franceses tinham lançado fogo a alguns casebres junto ao rio e Sharpe, agora, esquivava-se às nuvens de fumo e abria as portas meio queimadas. Havia uma pilha de redes a fumegarem num dos casebres, mas num outro estava um bote pintado de preto, com uma elegante proa pontiaguda, curva como um anzol.
Tinham lançado fogo ao casebre, mas as chamas não tinham atingido o bote e Sharpe já conseguira arrastá-lo meio para fora da porta, antes de o tenente Vicente aparecer e o ajudar a puxar o barco todo para longe da fumarada. Os outros casebres estavam todos em chamas, mas ao menos aquele bote estava a salvo e Sharpe verificou que poderia levar uma meia-dúzia de homens, o que significava que iam levar o resto do dia para atravessarem todos o rio. Sharpe ia pedir a Vicente para ver se encontrava remos, quando viu que a cara do jovem estava pálida e a tremer, como se o tenente estivesse quase a chorar.
- O que é que se passa? - perguntou Sharpe.
Vicente não respondeu, apontando simplesmente para a aldeia.
- Os franceses andaram a brincar com as senhoras, foi isso? - perguntou Sharpe, dirigindo-se para as casas.
- Eu não lhe chamaria brincar - disse Vicente amargamente -, e temos, também, um prisioneiro.
- Só um?
- Há mais dois - disse Vicente, franzindo a testa -, mas este é um tenente. Estava sem as calças, foi isso que o impediu de fugir.
Sharpe não perguntou porque é que o dragão capturado estava sem calças. Ele sabia porquê
- O que é que lhe fez?
- Ele tem de ser julgado - disse Vicente. Sharpe parou e olhou para o tenente.
- Ele tem de ser o quê? - perguntou, espantado. - De ser julgado?
- Claro.
- No meu país - disse Sharpe -, enforcam-se os violadores.
- Sem um julgamento, não - protestou Vicente e Sharpe ia jurar que os soldados portugueses teriam querido matar o prisioneiro de imediato, mas que Vicente os tinha impedido, com a ideia ingénua de que era necessário um julgamento.
- Raisparta - exclamou Sharpe -, você agora é um soldado, não é o raio de um advogado. Esses tipos não se julgam, arrancamos-lhes os corações.
A maior parte dos habitantes de Barca de Avintes fugira dos dragões, mas alguns tinham ficado e estavam agora reunidos junto de uma das casas, guardados por meia-dúzia dos homens de Vicente. Um dragão morto, sem a camisa, a casaca, as botas e as calças, estava estendido de barriga no chão, em frente da igreja. Devia estar encostado à igreja quando fora atingido, pois deixara uma mancha de sangue pelas pedras caiadas abaixo. Agora, um cão farejava-lhe os pés.
Os soldados e os aldeãos abriram alas para deixarem entrar Sharpe e Vicente na casa onde o jovem oficial dragão, de cabelo louro, magro e de ar sombrio estava sob a guarda do sargento Macedo e de outro soldado português. O tenente conseguira vestir as calças, mas não tivera tempo de as abotoar e estava a segurá-las pela cintura. Mal viu Sharpe, começou a palrar em francês.
- Sabe falar francês? - perguntou Sharpe a Vicente.
- Claro que sei - disse Vicente.
Vicente, porém, reflectiu Sharpe, queria conceder àquele francês touro um julgamento e Sharpe desconfiava que, se fosse Vicente a interrogar o prisioneiro, não ia obter dele a verdade, mas ouvir meras desculpas, por isso, foi à porta e chamou por Harper, esperando até o sargento aparecer.
- Traga-me o Tongue ou o Harris - ordenou ele.
- Eu falo com o homem - protestou Vicente.
- Eu preciso de si para falar com outra pessoa - disse Sharpe. Dirigiu-se para o quarto de trás da casa, onde uma rapariga, que não teria mais de catorze anos, estava a chorar. Tinha a cara toda vermelha, os olhos tumefactos e respirava aos soluços, entrecortados por gemidos roucos e lamentos de desespero. Estava envolta num lençol e tinha um hematoma na face esquerda. Uma mulher mais velha, toda vestida de preto, tentava consolar a rapariga, a qual começou a berrar mais alto quando viu Sharpe, fazendo-o sair do quarto, embaraçado.
- Tente saber por ela o que aconteceu - disse ele a Vicente, voltando-se quando Harris chegou.
Harris e Tongue eram os dois homens cultos de Sharpe. Tongue vira-se condenado à tropa pela bebida, enquanto o alegre e ruivo Harris afirmava ser um voluntário em busca de aventura. Tinha encontrado bastante, agora, pensou Sharpe.
- Este pedaço de merda - disse Sharpe a Harris, inclinando a cabeça para o francês - foi apanhado com as calças à volta dos tornozelos e com uma miudinha debaixo dele. Vê lá se descobres qual é a desculpa dele, antes de matarmos o sacana.
Saiu para a rua e bebeu uma grande golada do cantil. A água era morna e sabia a mofo. Harper estava junto de um bebedouro de equinos, no meio da rua e Sharpe foi junto dele.
- Tudo bem?
- Temos mais dois sapos ali - disse Harper, apontando com o polegar para a igreja atrás dele. - Vivos, quero eu dizer.
A porta da igreja estava guardada por quatro homens de Vicente.
- Que estão eles ali a fazer? - perguntou Sharpe. - A rezar?
O alto irlandês encolheu os ombros.
- Em busca de coito, acho eu.
- Não podemos levar esses sacanas connosco - disse Sharpe -, portanto, porque é que, muito simplesmente, não os liquidamos?
- Porque o tenente Vicente diz que não o devemos fazer - disse Harper. - É muito esquisito a respeito dos prisioneiros, o nosso tenente Vicente. Ele é advogado, não é?
- É, sim, mas, para advogado, é um tipo decente - admitiu Sharpe, contra vontade.
- Os melhores advogados são abaixo de cão, e o que eles são - disse Harper -, e este não me deixa matar aqueles dois sacanas. Diz que estão apenas bêbados, o que é verdade. Estão mesmo bêbados. Com uma tosga de todo o tamanho.
- Não podemos ficar com prisioneiros - disse Sharpe. Limpou o suor da testa e depois puxou de novo o quépi para a frente. A pala estava a soltar-se, mas nada podia fazer quanto a isso. - Chame o Tongue - sugeriu - e veja se ele descobre alguma coisa a respeito desses dois. Se apenas se embebedaram com o vinho da missa, levem-nos para oeste, tirem-lhes tudo o que tiverem de valor e deixem-nos ir para donde vieram. Mas, se violaram alguém...
- Eu sei o que tenho a fazer, meu Tenente - disse Harper, com ar severo.
- Então, força!
Sharpe afastou-se de Harper e caminhou para o local onde o riacho se juntava ao rio. A pequena ponte de pedra conduzia à estrada que seguia para este, através de uma vinha, passando pelo muro de um cemitério e, depois, rodeando um prado à beira do Douro. Era tudo terreno aberto e, se aparecessem mais franceses e tivesse de retirar da aldeia, nesse caso não ousaria utilizar aquela estrada e esperava que Deus lhe desse tempo de fazer os homens atravessarem o Douro no bote. E este pensamento fê-lo voltar para trás, à procura de remos. Ou talvez conseguisse encontrar uma corda? Se conseguisse encontrar uma corda suficientemente comprida, poderia estendê-la sobre o rio e impelir o bote de uma margem à outra, o que tornaria a manobra mais rápida do que a remar.
Estava a pensar que talvez houvesse cordas de sino na pequena igreja que, atadas, dessem para isso, quando Harris saiu da casa e se pôs a dizer que o nome do prisioneiro era tenente Olivier, do 18º de Dragões, e que o tenente, apesar de ter sido apanhado com os calções nos calcanhares, negava ter violado a rapariga.
- Ele diz que os oficiais franceses não fazem isso - disse Harris -, mas o tenente Vicente diz que a rapariga jura que ele o fez.
- Portanto, fez ou não fez? - perguntou Sharpe, irritado.
- Claro que fez, meu Tenente. Ele confessou, quando eu o sovei - disse Harris, com ar satisfeito -, mas insiste que ela também quis. Diz que a rapariga queria ser consolada, depois de um sargento a ter violado.
- Ser consolada! - disse Sharpe, sarcástico. - Ele foi o segundo, é isso?
- O quinto - disse Harris em tom neutro -, segundo diz a rapariga.
- Diabo do sacana! - exclamou Sharpe. - O que me apetece é dar-lhe uma grande carga de porrada e, depois, pendurá-lo pelo pescoço.
Sharpe voltou à casa onde os civis estavam a invectivar o francês, o qual os observava com um ar de desdém que seria admirável num campo de batalha. Vicente estava a proteger o dragão e apelou a Sharpe para o ajudar a escoltar o tenente Olivier.
- Ele tem de ser submetido a julgamento - insistiu Vicente.
- Ele acabou de ser julgado - disse Sharpe - e foi considerado culpado. Portanto, eu agora vou dar-lhe uma sova e, depois, enforcá-lo. Vicente parecia nervoso, mas não desistiu.
- Não podemos descer ao nível da barbárie deles - declarou ele.
- Eu não a violei - disse Sharpe -, não me coloque, pois, ao nível deles.
- Nós batemo-nos por um mundo melhor - afirmou Vicente.
Por um momento, Sharpe apenas ficou de olhar fixo no jovem oficial português, não querendo acreditar no que ouvira.
- E se o deixássemos aqui?
- Não podemos fazer isso - disse Vicente, sabendo bem que os aldeãos iriam exercer uma vingança muito mais terrível do que o que Sharpe propunha.
- E eu não posso levar prisioneiros - insistiu Sharpe.
- Não podemos matar - Vicente estava todo ruborizado de indignação, enfrentar Sharpe, mas não desistia - nem o podemos deixar aqui. Isso é um assassínio.
- Oh, meu Deus! - exclamou Sharpe, exasperado.
O tenente Olivier não sabia inglês, mas parecia compreender que era a sua sorte que estava em causa e fixava os olhos ora em Sharpe ora em Vicente, tal um falcão.
- E quem é que vai ser o juiz e formar o júri? - perguntou Sharpe, mas Vicente não chegou a responder, porque, naquele momento, ouviu-se um tiro de rifle, do lado oeste da aldeia, logo seguido por outro e, depois, por uma rajada de tiros.
Os franceses estavam de volta.
O tenente-coronel Christopher gostava de se ver com o uniforme dos Hussardos. Achava que lhe ficava bem e passou muito tempo a admirar-se ao espelho de pé, no amplo quarto da casa da quinta, vírando-se de um lado e do outro e deliciando-se com a sensação de poder que o uniforme lhe causava. Chegou à conclusão de que isso provinha das botas com embutidos e do alto colarinho duro da casaca, o qual o forçava a manter-se direito e com a cabeça para trás. E, também, do corte da casaca, tão justa que Christopher, magro e em forma como estava, ainda assim tinha de encolher a barriga, para apertar os colchetes ao longo da frente da casaca orlada a prata. O uniforme fazia-o sentir-se investido de autoridade, a elegância do conjunto acrescida pela peliça orlada a pele que lhe descaía do ombro esquerdo e pela bainha do sabre, presa por uma corrente de prata, a qual tinia ao descer as escadas e ao passear-se no terraço, enquanto esperava pelo seu hóspede. Meteu uma apara de madeira na boca, obsessivamente remexendo entre os dentes, enquanto olhava para a distante coluna de fumo que indicava onde os edifícios estavam a arder, na cidade capturada. Muitos fugitivos tinham passado pela quinta, pedindo comida. Luís conversara com eles e, depois, contara a Christopher que centenas, senão milhares de pessoas tinham morrido afogadas na ponte das barcas. Os refugiados afirmavam que os franceses tinham destruído a ponte à canhonada e Luís, o ódio ao inimigo inflamado pelo falso boato, mirava o patrão com uma expressão tão carrancuda que Christopher, por fim, perdeu a paciência.
- É apenas um uniforme, Luís! Não quer dizer que eu tenha mudado de campo!
- Mas é um uniforme francês - queixou-se Luís.
- Queres-te ver livre dos franceses, não queres - atirou Christopher. Então, porta-te com respeito e esquece este uniforme.
Christopher continuou a percorrer o terraço, palitando os dentes e observando constantemente a estrada que rodeava a montanha. O relógio da elegante sala da quinta bateu as três horas e, mal o som da última badalada se esvaneceu, surgiu uma coluna de cavalaria ao longe. Eram dragões e vinham em força, para garantir que nem guerrilheiros nem tropas portuguesas fugitivas iriam causar problemas ao oficial que cavalgava ao encontro de Christopher.
Os dragões, todos do 18º Regimento, espalharam-se pelos campos junto da quinta, onde um riacho proporcionava água para os cavalos. As jaquetas verde-rosadas dos cavaleiros estavam brancas da poeira. Alguns, ao verem Christopher no seu uniforme de hussardo francês, fizeram-lhe uma rápida continência, mas a maior parte ignorou-o, conduzindo os cavalos para o riacho, na altura em que o inglês se voltava para saudar o visitante.
O nome dele era Argenton, era capitão, pertencia ao estado-maior do 18º Regimento de Dragões e, pelo sorriso, era óbvio que conhecia e se dava bem com o coronel Christopher.
- O uniforme fica-lhe bem - disse Argenton.
- Arranjei-o no Porto. Pertencia a um pobre de um prisioneiro que morreu de febre. Um alfaiate ajustou-mo.
- E fê-lo bem - disse Argenton, apreciativo. - Agora, só lhe faltam as cadenettes.
- As cadenettes?
- Sim, as patilhas - explicou Argenton, levando as mãos às têmporas, onde os hussardos deixavam crescer o cabelo, para se distinguirem como cavaleiros de elite. - Alguns homens ficam carecas e mandam pregar cadenettes falsas aos quépis.
- Não sei se vou deixar crescer as patilhas - disse Christopher, bem-humorado -, mas talvez encontre uma moça bonita, de cabelo preto, e que me deixe cortar um par de patilhas, quem sabe?
- Boa ideia - disse Argenton.
Observou, com agrado, que a sua escolta postava sentinelas e, depois, agradeceu com um sorriso ao carrancudo Luís, o qual lhe servira, bem como a Christopher, um copo de vinho verde, um vinho branco dourado do vale do Douro. Argenton provou o vinho cautelosamente e ficou surpreendido por ele ser delicioso. Era um homem delgado, com uma cara aberta e franca, o cabelo ruivo húmido do suor e vincado onde o capacete assentara. Sorria com facilidade, reflexo da sua natureza franca. Christopher menosprezava o francês, mas sabia que Argenton lhe seria útil.
Argenton bebeu o vinho todo do copo.
- Já ouviu falar dos afogados no Porto? - perguntou ele.
- O meu criado diz que vocês destruíram a ponte.
- Tinham de inventar isso, pois claro - disse Argenton, em tom amargo. - A ponte partiu-se sob o peso dos refugiados. Foi um acidente. Um triste acidente, mas, se as pessoas tivessem permanecido em suas casas e recebido decentemente as nossas tropas, não se teria estabelecido aquele pânico na ponte. E estariam todos vivos. Agora culpam-nos, mas nós não tivemos nada a ver com aquilo. A ponte não era suficientemente forte e, vamos lá a ver, quem é que a construiu? Foram os portugueses.
- Foi um triste acidente, como diz - disse Christopher -, mas, de todo o modo, tenho de congratulá-lo pela tomada do Porto. Foi um notável feito de armas.
- Teria sido ainda mais notável - observou Argenton - se a resistência tivesse contado com melhores soldados.
- Penso que as vossas baixas terão sido diminutas?
- Pouca coisa - disse Argenton, com ar indiferente -, mas um esquadrão do nosso regimento foi enviado para leste e perdeu alguns homens numa embos-cada, junto ao rio. Uma emboscada - acrescentou ele, olhando acusadoramente para Christopher - em que alguns atiradores ingleses tomaram parte. Eu julgava que não havia tropas inglesas no Porto.
- E nem devia haver - disse Christopher -, pois ordenei-lhes que seguissem para sul do rio.
- Então, desobedeceram-lhe - disse Argenton.
- Morreu algum dos fuzileiros? - perguntou Christopher, com a débil esperança de que Argenton lhe anunciasse a morte de Sharpe.
- Eu não estive lá. Estou sediado no Porto, para tratar dos alojamentos, das rações, das comunicações.
- Tarefas que, tenho a certeza, desempenha na perfeição - disse Christopher, lisonjeiro.
Depois conduziu o hóspede para dentro de casa, onde Argenton admirou os azulejos em redor da lareira da sala de jantar e o despretensioso candelabro de ferro forjado suspenso sobre a mesa. A refeição era muito simples, compondo-se de galinha com ervilhas, pão, queijo e um bom vinho caseiro, mas o capitão Argenton apreciou-a bastante.
- Temos andado a comer rações reduzidas - explicou ele -, mas isso, agora, vai mudar. Encontrámos muita comida no Porto e um armazém cheio até ao tecto de boa pólvora inglesa e de projécteis.
- Também estavam com falta disso? - Perguntou Christopher.
- Não, temos bastante - disse Argenton -, mas a pólvora inglesa é melhor do que a nossa. Nós não dispomos de nenhuma fonte de salitre, a não ser o que raspamos das paredes das fossas.
Christopher fez uma careta, perante aquela declaração. O melhor salitre, um ingrediente essencial da pólvora, provinha da índia e ele nunca havia imaginado que pudesse escassear em França.
- Presumo - disse ele - que tenha sido um presente dos ingleses aos portugueses.
- Que, agora, no-lo ofereceram - disse Argenton - para grande regozijo do marechal Soult.
- Está na altura - disse Christopher - de tornarmos o marechal infeliz.
- Na verdade - disse Argenton -, na verdade... - depois calando-se, porque tinham chegado ao objectivo do encontro.
Era um objectivo estranho, mas excitante. Os dois homens planeavam um motim. Ou uma rebelião. Ou um golpe contra o exército do marechal Soult. Fosse qual fosse a maneira de o designar, tratava-se de um conluio que podia pôr fim à guerra.
No seio do exército de Soult havia, explicava agora Argenton, muito descontentamento. Christopher já ouvira o seu hóspede dizer-lhe isso, mas não interrompeu Argenton, enquanto ele repetia os argumentos que justificavam a sua deslealdade. Referiu que muitos oficiais, católicos devotos, se sentiam extremamente indignados com o comportamento do exército em Espanha e em Portugal. As igrejas tinham sido profanadas, as freiras violadas.
- Até os santos sacramentos foram maculados - disse Argenton, num tom horrorizado.
- Custa a crer - disse Christopher.
Outros oficiais, uns poucos, opunham-se simplesmente a Bonaparte. Argenton era um monárquico católico, mas estava disposto a fazer causa comum com os homens que ainda simpatizavam com os jacobinos e que achavam que Bonaparte traíra a revolução.
- Não podemos confiar neles, claro - disse Argenton -, a longo prazo não, mas juntar-se-ão a nós, na oposição à tirania de Bonaparte.
- Espero bem que sim - disse Christopher.
O Governo britânico sabia há muito tempo que existia uma corrente de oficiais franceses que se opunha a Bonaparte, os quais se apelidavam a eles próprios de Filadélfios e Londres tinha, em tempos, enviado agentes seus em busca de contacto com a sua suposta organização, mas chegara à conclusão de que os seus membros eram poucos, que os seus ideais eram vagos e que os seus apoiantes se encontravam demasiado divididos ideologicamente para serem bem-sucedidos.
Sem embargo, ali, no remoto Norte de Portugal, os vários opositores de Bonaparte haviam encontrado uma causa comum. Christopher ouvira falar pela primeira vez nessa causa ao conversar com um oficial francês, aprisionado na fronteira norte de Portugal. Estava em Braga, onde, sob a sua palavra de honra, gozava de uma certa liberdade, com a única restrição de não sair do aquartelamento, para sua própria protecção. Christopher bebera com o infeliz oficial e ouvira-o contar a história de uma inquietação que se espalhava, a respeito da absurda ambição de um determinado homem.
Nicolas Jean de Dieu Soult, duque da Dalmácia, marechal de França e comandante-em-chefe do exército que, então, invadira Portugal, vira outros homens que serviam o imperador tornarem-se príncipes, e até reis, e achava que o seu ducado era fraca recompensa para uma carreira que suplantava quase todos os outros marechais do imperador. Soult era, então, militar havia vinte e quatro anos, general havia quinze e marechal havia cinco anos. Em Austerlitz, a maior vitória do imperador até então, Soult tinha-se coberto, de glória, suplantando em muito o marechal Bernadotte, o qual, no entanto, era agora príncipe de Pontecorvo. Jérôme Bonaparte, o irmão mais novo do imperador, era um preguiçoso e extravagante valdevinos, contudo, era rei da Vestefália, enquanto o marechal Murat, um brigão e um fanfarrão, era rei de Nápoles. Luís Napoleão, outro dos irmãos do imperador, era rei da Holanda. Todos esses homens eram umas nulidades, enquanto ele, Soult, que tinha consciência do seu valor, não passava de um mero duque, e isso não era justo.
Agora, porém, o velho trono de Portugal estava sem monarca. A família real, receando a invasão francesa, fugira toda para o Brasil e Soult queria ocupar o lugar deixado vago.
A princípio, o coronel Christopher não acreditara na história, mas o prisioneiro jurara que era verdadeira e, posteriormente, Christopher falara com outros prisioneiros capturados em escaramuças na fronteira norte e todos afirmavam já ter ouvido falar nessa mesma história. Não era segredo nenhum, diziam, que Soult tinha pretensões reais, mas o prisioneiro, sob palavra, dissera também a Christopher que as ambições do marechal irritavam muitos dos seus oficiais, aos quais não agradava a ideia de se baterem tão longe da pátria para colocarem Nicolas Soult num trono vazio. Falava-se em motim e Christopher pensava na maneira de descobrir se a conversa de motim era a sério, quando lhe aparecera o capitão Argenton.
Argenton, com muita ousadia, andava a percorrer o Norte de Portugal, vestido à civil, declarando ser um mercador de vinhos canadiano. Se fosse apanhado, seria fuzilado como espião, pois Argenton não andava a explorar o terreno à frente das tropas francesas, mas a tentar descobrir se havia aristocratas portugueses dispostos a encorajar as ambições de Soult. Isto porque, para o marechal se declarar rei de Portugal ou, mais modestamente, rei da Lusitânia do Norte, tinha de estar convencido de que havia bastantes homens influentes em Portugal dispostos a apoiar a usurpação do trono vago. Argenton falara com esses homens e Christopher, para sua surpresa, veio a saber que havia muitos aristocratas, clérigos e professores no Norte de Portugal que detestavam a sua monarquia e que acreditavam que um rei estrangeiro, vindo da iluminada França, seria vantajoso para o País. Circulavam, pois, documentos, a reunir assinaturas para encorajar Soult a declarar-se rei.
E, quando isso acontecesse, prometia Argenton a Christopher, o exército amotinava-se. A guerra tinha de parar, dizia Argenton, senão tal incêndio consumiria a Europa inteira. Era uma loucura, dizia ele, uma loucura do imperador, o qual parecia determinado a conquistar o mundo inteiro.
- Ele julga-se Alexandre, o Grande - disse o francês, melancolicamente e, se não pára, vai destruir a França. Contra quem nos vamos bater? Contra toda a gente? Contra a Áustria, a Prússia, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, a Rússia?
- A Rússia nunca - disse Christopher -, nem mesmo Bonaparte é assim tão louco!
- Ele é louco, é - insistiu Argenton -, e a França tem de se livrar dele. E o início do processo seria, acreditava ele, o motim que decerto rebentaria quando Soult se declarasse rei.
- O exército está descontente - acedeu Christopher -, mas segui-lo-ão num motim?
- Não serei eu a chefiá-lo - disse Argenton -, mas há homens que o farão. E esses homens querem fazer o exército regressar a França e isso, garanto-lhe, é o que a maior parte dos soldados deseja. Eles apoiarão o motim.
- Quem são esses chefes? - perguntou Christopher de imediato. Argenton hesitou. Um motim era um empreendimento perigoso e, se a identidade dos chefes se tornasse conhecida, haveria uma orgia de fuzilamentos.
Christopher viu a hesitação dele.
- Se queremos convencer as autoridades inglesas de que os vossos planos merecem crédito - disse ele -, então, temos de lhes dar nomes. Temos mesmo. E você, meu amigo, tem de confiar em mim - disse Christopher, colocando uma mão no coração. - juro-lhe, pela minha honra, que nunca atraiçoarei esses nomes. Nunca!
Argenton, confiante, indicou o nome dos homens que estariam à cabeça da rebelião contra Soult. Era o coronel Lafitte, comandante do seu próprio regimento, e o irmão do coronel, os quais contavam com o apoio do coronel Donadieu, comandante do 47º Regimento de Infantaria.
- Eles são muito respeitados - disse Argenton, convictamente - e os homens vão segui-los.
Deu mais nomes que Christopher anotou no seu bloco, notando, porém, que nenhum deles era acima da patente de coronel.
- É uma lista impressionante - mentiu Christopher, sorrindo depois. Agora dê-me outro nome. Diga-me quem, no vosso exército, é o vosso mais perigoso opositor.
- O nosso mais perigoso opositor...? - Argenton ficara confundido com a pergunta.
- Para além do marechal Soult, claro - continuou Christopher. - Eu quero saber quem devemos nós vigiar, ou talvez, como hei-de dizer, neutralizar.
- Ah! - Argenton, agora, compreendera e pensou durante uns momentos. - Possivelmente, o brigadeiro Vuillard - disse ele.
- Nunca ouvi falar dele.
- É um bonapartista por dentro e por fora - disse Argenton, com uma expressão de desagrado.
- Soletre-me o nome dele, por favor - pediu Christopher, anotando-o depois: Brigadeiro Henri Vuillard. - Presumo que não saberá nada dos vossos desígnios, pois não?
- Claro que não! - disse Argenton. - Mas os nossos desígnios, coronel, só podem funcionar com o apoio britânico. O general Cradock é receptivo, não é?
- Cradock é muito receptivo - disse Christopher confiadamente. Tinha relatado as conversas anteriores ao general, o qual vira no anunciado motim uma alternativa para combater os franceses, encorajando, por isso, Christopher a prosseguir.
- Porém - acrescentou Christopher -, correm rumores de que vai em breve ser substituído.
- E quem o vai substituir? - inquiriu Argenton.
- Wellesley - disse Christopher, em tom neutro. - Sir Arthur Wellesley.
- E é um bom general?
Christopher encolheu os ombros.
- É um homem bem relacionado. É o filho mais novo de um conde. Estudou em Eton, é claro. Não o consideraram suficientemente inteligente para mais nada a não ser a carreira militar, mas muita gente acha que ele se portou muito bem o ano passado, junto a Lisboa.
- Contra Laborde e Junot! - disse Argenton, cáustico.
- E somou alguns êxitos na índia, antes disso - acrescentou Christopher, como aviso.
- Oh, na índia! - disse Argenton, sorrindo. - As reputações granjeadas na índia raramente aguentam uma rajada na Europa. Mas quererá esse Wellesley bater-se com Soult?
Christopher considerou a pergunta.
- Eu acho - disse por fim - que ele prefere não ser derrotado. Penso conti-nuou ele - que, se tiver conhecimento da intensidade dos vossos sentimentos, irá cooperar.
Christopher não estava nada seguro do que afirmava. Na verdade, tinha ouvido dizer que o general Wellesley era um homem frio, nada receptivo a um tipo de empreendimento que, para ser bem-sucedido, dependia de tantos pressupostos. Christopher, porém, tinha outras coisas em vista em toda aquela trama. Duvidava que o motim viesse a acontecer e nada lhe importava o que Cradock ou Wellesley pensassem a esse respeito. Sabia que podia retirar grandes vantagens do facto de ter conhecimento de tudo aquilo e, de momento, convinha-lhe que Argenton o encarasse como um aliado.
- Diga-me - disse ele para o francês -, o que é que pretendem exactamente de nós?
- A vossa influência - disse Argenton. - Queremos que os ingleses convençam os portugueses a aceitarem Soult como rei.
- Eu julgava que já dispunham de apoio suficiente - disse Christopher.
- Eu encontrei muito apoio - confirmou Argenton -, mas muitos não o declaram, com medo da vingança do povo. Porém, se os ingleses os encora-jassem eles iam arranjar coragem. Eles nem sequer têm de declarar o seu apoio publicamente, basta que escrevam cartas a Soult. Depois, temos os intelectuais - o olhar cáustico de Argenton ao pronunciar a última palavra azedaria o leite -, a maior parte dos quais apoiará qualquer Governo que não o deles, mas também eles precisam de ser encorajados, para terem a ousadia de expressar o seu apoio a Soult.
- Tenho a certeza de que teremos muito prazer em proporcionar esse encorajamento.
Ele não tinha, de modo nenhum, a certeza disso.
- Nós precisamos de ter a garantia - disse Argenton, em tom firme de que, se chefiarmos uma rebelião, os ingleses não se aproveitam da situação, atacando-nos. Preciso da palavra do vosso general acerca disso.
Christopher concordou, inclinando a cabeça.
- Sim, e eu acho que ele não se escusará a isso. Porém, antes de se compro-meter com essa promessa, vai querer ajuizar ele próprio da vossa possibilidade de êxito e, isso, caro amigo, significa que ele vai querer ouvi-lo de si, directamente. - Christopher pegou numa garrafa de vinho, fazendo uma pausa, antes de encher os copos. - E acho que você precisa de ouvir a garantia pessoal dele directamente. Acho que deve seguir para o sul, ao encontro dele.
Argenton pareceu ficar surpreendido com a sugestão, mas, depois de reflectir uns momentos, aquiesceu com a cabeça.
- Arranja-me um salvo-conduto que me permita atravessar as linhas inglesas em segurança?
- Farei melhor do que isso, meu amigo. Irei consigo, desde que me arranje um salvo-conduto para atravessar as linhas francesas.
- Então, iremos os dois! - disse Argenton, todo satisfeito. - O meu Coronel vai dar-me autorização, pois sabe o que andamos a fazer. Mas quando? Tem de ser em breve, não acha? Amanhã?
- Depois de amanhã - disse Christopher em tom firme. - Tenho um compromisso amanhã, a que não me posso esquivar, mas, se nos encontrarmos amanhã à tarde em Vila Real de Zedes, podemos iniciar a viagem no dia seguinte. Está de acordo?
Argenton fez que sim.
- Tem de me explicar como se chega a Vila Real de Zedes.
- Eu dou-lhe todas as indicações - disse Christopher, erguendo depois o copo -, mas, agora, bebamos ao êxito do nosso empreendimento.
- Ámen a isso - disse Argenton, erguendo o copo para o brinde. O coronel Christopher sorriu, pois estava a estabelecer as regras.
Sharpe correu pelo campo onde jaziam os cavalos mortos as moscas a rastejarem-lhes nas narinas e nas órbitas. Tropeçou num dos grampos metálicos e, ao tombar para a frente, uma bala de carabina passou perto dele, o som sugerindo que se tratava de uma bala perdida, mas mesmo uma bala perdida podia matar um homem. Os seus atiradores estavam a disparar ao fundo do campo, o fumo dos rifles Baker a adensar-se junto ao muro. Sharpe atirou-se para o chão, ao lado de Hagman
- O que é que se passa, Dan?
- Os dragões estão de volta, meu Tenente - disse Hagman, lacónico e há também ali alguma infantaria.
- Tens a certeza?
- Já matei um deles - disse Hagman - e dois casacas-verdes, até agora. Sharpe limpou o suor da cara e arrastou-se ao longo do muro, para um sítio onde o fumo da pólvora era menos espesso. Os dragões tinham desmontado e estavam a disparar da beira de um bosque, a cerca de uns oitenta metros de distância. Era demasiado longe para o alcance das carabinas deles, pensou Sharpe, mas, depois, viu uns uniformes azuis na estrada que se metia por entre as árvores e verificou que a infantaria se preparava para um ataque. Houve um estalido estranho perto dele que não conseguiu situar, mas parecia não constituir uma ameaça e Sharpe ignorou-o.
- Pendleton!
- Meu Tenente?
- Vai ter com o tenente Vicente. Ele está na aldeia. Diz-lhe para tirar os homens da passagem e seguir para norte. - Sharpe apontou para o caminho no meio das videiras, por onde tinham entrado em Barca de Avintes e onde ainda se encontravam os dragões mortos no primeiro embate. - E diz-lhe que se mexa. Mas sê bem-educado.
Pendleton, um ratoneiro de Bristol e o mais jovem dos homens de Sharpe, ficou surpreendido.
- Bem-educado, meu Tenente?
- Sim, trata-o por meu Tenente e faz-lhe continência, mas despacha-te!
Raisparta, pensou Sharpe. Não ia poder atravessar o Douro naquele dia, puxando o barco para a frente e para trás, não podia ir reunir-se ao capitão Hogan e ao exército. Em vez disso, tinham de tentar escapar para norte e tinham de o fazer depressa.
- Sargento! - Olhava para a esquerda e para a direita, através das manchas nebulosas do fumo dos rifles, ao longo do muro. - Harper!
- Aqui estou, meu Tenente! - Harper apareceu a correr por trás dele.
- Estive a tratar daqueles dois sapos, na igreja.
- Logo que os portugueses estejam todos na vinha, vamos sair daqui. Temos alguns homens na aldeia?
- Está lá o Harris, meu Tenente, e Pendleton, é claro.
- Mande alguém dizer-lhes para saírem dali. - Sharpe ergueu o rifle por cima do muro e disparou um tiro para a infantaria que se estava a reunir na estrada, junto às árvores. - E, Pat, o que é que fez aos dois sapos?
- Eles tinham roubado a caixinha das esmolas - disse Harper - de modo que despachei-os.
Harper afagou a bainha da espada. Sharpe sorriu.
- E, se tiver oportunidade, faça o mesmo ao sacana daquele oficial francês.
- Com muito gosto, meu Tenente - disse Harper, correndo depois através do cercado.
Sharpe recarregou a arma. Os franceses, pensou ele, estavam a ser por de mais cautelosos. já deviam ter atacado, mas deviam pensar que havia em Barca de Avintes uma força muito maior do que as duas encalhadas meias companhias, além de que o fogo dos rifles devia ser desconcertante para os dragões, os quais não estavam habituados a semelhante precisão. Havia corpos estendidos na erva à beira do bosque, sinal de que os dragões franceses tinham tomado conhecimento do que era um rifle Baker da pior maneira. Os franceses não usavam rifles. Sabiam que as estrias no interior do cano da arma imprimiam maior precisão ao tiro, mas que, em contrapartida, tornavam o recarregamento mais lento e, por isso, os franceses, como muitos batalhões ingleses, preferiam os mosquetes, mais rápidos de carregar, mas muito menos precisos. Um homem podia estar a cinquenta metros de um mosquete e tinha grande possibilidade de escapar, mas estar a oitenta metros de um rifle Baker, nas mãos de um bom atirador, era uma sentença de morte. Por isso, os dragões tinham-se retirado para o interior do bosque.
Havia também infantaria no bosque, mas o que estariam os sacanas a fazer? Sharpe encostou o rifle recarregado e sacou do óculo, o belo instrumento produzido por Matthew Berge, de Londres, e que fora uma oferta de Sir Arthur Wellesley, quando Sharpe salvara a vida do general, no Assão. Apoiou o óculo no cimo musgoso do muro e apontou-o à companhia de infantaria francesa, bem metida no meio das árvores, mas Sharpe conseguiu ver que tinha formado em três filas. Procurou distinguir algum indício de que estivessem prestes a avançar, mas os homens estavam à vontade, coronhas dos mosquetes no chão, e nem sequer tinham fixado baionetas. Limpou muito bem o óculo, de repente receando que os franceses lhe cortassem a retirada, infiltrando-se nos vinhedos, mas não viu nada de preocupante. Tornou a olhar para as árvores e avistou um raio de luz, um círculo branco bem distinto, e percebeu que havia um oficial ajoelhado na sombra das árvores a observar a aldeia por um óculo. O homem tentava, sem dúvida, avaliar quantos inimigos se encontravam em Barca de Avintes e como atacá-los. Sharpe guardou o seu óculo, pegou no rifle e apoiou-o no cimo do muro. Atenção agora, pensou ele, muita atenção. Mata aquele oficial e atrasas o ataque, porque aquele oficial é o homem que decide. Sharpe, então, armou o cão, inclinou a cabeça de modo a que o olho direito enxergasse o alvo, encontrou a mancha de sombra que o uniforme azul do francês constituía e ergueu a mira, uma lâmina de metal que levava o cano a cobrir o alvo, permitindo, assim, que a bala o atingisse. Havia pouco vento, não iria desviar a bala. Soou o estalejar de outros rifles. Uma gota de suor tremeu no olho esquerdo de Sharpe, quando ele puxou o gatilho e a coronha do rifle lhe empurrou o ombro. O bafo de fumo ardente da caçoleta fez-lhe doer o olho direito e os salpicos de pólvora queimada picaram-lhe a cara, a nuvem de fumo que saía do cano pairando em frente do muro e escondendo-lhe o alvo. Sharpe voltou-se de lado e viu os soldados do tenente Vicente a meterem-se na vinha, acompanhados por uma trintena de civis. Harper voltava através do terreno cercado. O estalido estranho era agora mais intenso e Sharpe apercebeu-se de que era o som de balas de carabina a embaterem no outro lado do muro de pedra.
- Já não temos ninguém na aldeia, meu Tenente - disse Harper.
- Então, vamo-nos embora - disse Sharpe, admirado por o inimigo ser tão lento, dando-lhe tempo a retirar a sua força.
Mandou Harper juntar-se a Vicente, com a maior parte dos fuzileiros, os quais levaram com eles uma dúzia de cavalos franceses, pois cada cavalo valeria uma fortuna, se conseguissem reagrupar-se ao exército. Sharpe ficou com Hagman e mais seis homens, espalhados ao longo do muro, a dispararem tão rápido quanto recarregavam os rifles. Isso significava que não embru-lhavam as balas nos pedaços de couro que as apertavam no cano, simplesmente as enfiando pelo cano abaixo, porque a Sharpe já não lhe interessava a precisão, ele queria era que os franceses vissem um espesso fluir de fumo e ouvissem os tiros, para que não se apercebessem de que o inimigo retirava.
Sharpe premiu o gatilho e a pederneira desfez-se em pedaços, por isso, pôs o rifle a tiracolo e saiu do meio da fumarada. Vendo que Vicente e Harper já estavam na vinha, gritou para os homens recuarem através da cerca. Hagman parou, para um último disparo, e depois pôs-se a correr, com Sharpe atrás, o último homem a partir. Sharpe nem queria acreditar como tinha sido fácil escapar, como os franceses tinham sido tão estúpidos e, nesse preciso momento, Hagman foi ao chão.
Ao princípio, Sharpe pensou que Hagman tinha tropeçado num dos grampos de ferro a que os dragões prendiam os cavalos, mas, depois, viu que havia sangue na erva e que Hagman largara o rifle, fechando e abrindo lentamente a mão direita.
- Dan! - exclamou Sharpe, ajoelhando-se junto dele e vendo uma pequena ferida no alto da omoplata esquerda de Hagman. Uma infeliz bala de carabina que furara através do fumo e encontrara o alvo.
- Vá-se embora, meu Tenente - disse Hagman com voz rouca. - Eu estou feito.
- Não estás nada feito - disse Sharpe.
Sharpe voltou Hagman para cima e verificou que não havia nenhuma ferida da parte da frente, portanto a bala estava algures lá dentro. Hagman, então, tossiu e cuspiu uma espuma de sangue. Sharpe ouviu Harper a gritar-lhe.
- Os gajos vêm aí, meu Tenente!
Apenas um minuto antes, pensou Sharpe, estava a congratular-se por ter sido tão fácil escapar e, agora, tudo ruía. Pegou no rifle de Hagman, colocou-o ao lado do seu e ergueu do chão o velho caçador furtivo, o qual soltou um ofego, um gemido e se pôs a abanar a cabeça.
- Largue-me, meu Tenente.
- Não te vou largar, Dan.
- Isto dói, meu Tenente, isto dói - gemia Hagman.
Tinha um palor de morte na cara, tinha uma gota de sangue a sair-lhe da boca e, de repente, Harper surgiu ao lado de Sharpe e tirou-lhe Hagman dos braços.
- Deixem-me aqui - disse Hagman mansamente.
- Leve-o, Pat! - disse Sharpe.
E, então, soaram tiros de rifles vindos da vinha, os mosquetes estrepi-tavam atrás dele e o ar assobiava com as balas, com Sharpe a empurrar Harper para a frente. Sharpe seguia caminhando de costas, observando os uniformes azuis dos franceses a surgirem do nevoeiro de fumo provocado pelas suas desordenadas descargas.
- Venha daí, meu Tenente - gritou Harper, fazendo saber a Sharpe que já tinha Hagman no frágil abrigo da vinha.
- Leve-o para norte - disse-lhe Sharpe, quando chegou à vinha.
- Ele está a sofrer muito, meu Tenente.
- Leve-o! Leve-o daqui!
Sharpe observou os franceses. Três companhias de infantaria tinham atacado o prado, mas nada faziam para perseguir Sharpe. Deviam ter visto a coluna de soldados portugueses e ingleses a introduzirem-se na vinha, acompanhados pelos cavalos capturados e por uma chusma de aldeãos receosos, mas não os perseguiam. Parecia que lhes interessava mais Barca de Avintes do que matar os homens de Sharpe. Mesmo quando Sharpe se instalou num outeiro a cerca de um quilómetro a norte da aldeia e se pôs a observar os franceses com o óculo, nem mesmo então se aproximaram dele para o escorraçar. Podiam facilmente escorraçá-lo com OS dragões, mas, em vez disso, partiram à machadada o bote que Sharpe havia recuperado e deitaram-lhe fogo.
- Eles estão a fechar o rio - disse Sharpe para Vicente.
- A fechar o rio? - Vicente não compreendera.
- Estão a fazer com que só eles é que disponham de barcos. Eles querem evitar que tropas britânicas ou portuguesas atravessem o rio, para os atacarem pela retaguarda. O que quer dizer que nos vai ser muito difícil passar para o outro lado. - Sharpe voltou-se quando Harper se aproximava e viu que as mãos do irlandês estavam cheias de sangue. - Como é que ele está? Harper abanou a cabeça.
- Ele está em muito mau estado, meu Tenente - disse ele, sombrio. - Acho que tem a bala alojada num pulmão. Está a tossir sangue, quando consegue tossir. Pobre Dan.
- Eu não o vou deixar aqui - disse Sharpe obstinadamente.
Sabia que já deixara ficar Tarrant para trás e que homens como Williamson, amigos de Tarrant, se iam ressentir por Sharpe não fazer o mesmo com Hagman, mas Tarrant era um bêbado e um conflituoso, enquanto Dan Hagman era valioso. Era o homem mais velho entre os fuzileiros de Sharpe e detinha uma soma de bom senso que o tornavam um conselheiro seguro. Além disso, Sharpe gostava do velho caçador furtivo.
- Façam uma padiola, Pat - disse ele -, e carreguem com ele. Fizeram uma padiola com as casacas, enfiando as mangas em dois ramos de freixo e, enquanto a faziam, Sharpe e Vicente observavam os franceses, discutindo a maneira de escaparem deles.
- O melhor que temos a fazer - dizia o tenente português - é caminhar para leste, para Amarante. - Alisou a terra do chão com o pé e desenhou um mapa tosco com um pau. - Isto é o rio Douro - disse ele - e aqui é o Porto. Nós estamos aqui - apontou com o pau um ponto do rio muito perto do Porto - e a ponte mais próxima fica em Amarante - acrescentou, fazendo no chão uma cruz nitidamente para leste. - Podemos lá chegar amanhã ou depois de amanhã.
- E eles também - disse Sharpe sombriamente, apontando para a aldeia. Acabava, justamente, de aparecer uma peça de artilharia no meio das árvores onde os franceses tinham esperado tanto tempo para atacarem os homens de Sharpe. O canhão era puxado por seis cavalos, três deles montados por artilheiros nos seus uniformes azuis. A peça em si, de doze libras, estava montada no armão, o qual consistia num rodado de duas rodas que servia de câmara e de eixo para a cauda do canhão. Por trás da peça, via-se outra equipagem de quatro cavalos, estes puxando um armão de quatro rodas, transportando as munições, meia-dúzia de artilheiros e um caixotão com um rodado sobressalente. Mesmo a cerca de um quilómetro de distância, Sharpe conseguia ouvir o tinir das correntes e o som cavo dos rodados. Observava tudo aquilo em silêncio, quando viu surgir um obus, depois mais outra peça de doze libras e, depois disso, uma tropa de hussardos.
- Acha que eles vêm para aqui? - perguntou Vicente, alarmado.
- Não - disse Sharpe. - Eles não estão interessados em fugitivos. Eles vão é para Amarante.
- Aquela não é a melhor estrada para Amarante. De facto, aquela não vai para lado nenhum. Eles têm de derivar para norte, para a estrada principal.
- Eles ainda não sabem isso - considerou Sharpe - e tomam a primeira estrada que segue para leste.
No meio das árvores surgia, agora, a infantaria e, depois, outra bateria de artilharia. Sharpe estava a ver um pequeno exército a dirigir-se para leste e só podia haver uma razão para mandar tantos homens e tantas peças para leste: capturar Amarante e, assim, proteger o flanco esquerdo francês.
- Amarante - disse Sharpe -, é para lá que os sacanas vão.
- Então, nós não podemos ir para lá - disse Vicente, riscando no chão outra estrada a norte deles. - Esta é a estrada principal - disse Vicente -, mas os franceses também já lá devem estar. Tem mesmo de ir a Amarante?
- Eu tenho de atravessar o rio - disse Sharpe - e há lá uma ponte, há lá tropas portuguesas e, lá porque os malditos Sapos vão para lá, não quer dizer que capturem a ponte. - E se o fizerem, pensou ele, então seguiriam mais para norte, até encontrarem um ponto de travessia, seguindo depois, pela margem de lá do Tâmega, para sul, até encontrarem uma região do Douro desguar-necida de franceses. - Portanto, como é que chegamos a Amarante, se não formos pela estrada? Não podemos ir a corta-mato?
Vicente fez que sim com a cabeça.
- Seguimos para norte até uma aldeia que fica aqui - disse ele, apontando para um espaço vazio no seu mapa - e, depois, derivamos para leste. A aldeia fica no sopé das montanhas, no começo do... como é que vocês dizem? Do descampado. Nós costumávamos lá ir.
- Nós quem? - perguntou Sharpe. - Os poetas e os filósofos?
- Sim - disse Vicente. - Costumávamos passear por ali, passávamos a noite na taberna e regressávamos no dia seguinte. Duvido que os franceses lá estejam. Não fica na estrada de Amarante. É uma aldeia muito isolada.
- Então, vamos lá para essa aldeia à beira do descampado - disse Sharpe. - Como é que se chama?
- Vila Real de Zedes - disse Vicente. - Chama-se assim porque, em tempos, as vinhas de lá pertenciam ao rei, mas isso foi há já muito tempo. Agora pertencem à...
- Vila Real de quê? - perguntou Sharpe.
- De Zedes - disse Vicente, admirado com o tom de Sharpe e ainda mais admirado ficando com o sorriso na cara dele. - Conhece o sítio?
- Não, não conheço - respondeu Sharpe -, mas há uma rapariga que eu quero encontrar lá.
- Uma rapariga! - havia um tom de censura na expressão de Vicente.
- Uma rapariga de dezanove anos - disse Sharpe - e, acredite ou não, é uma missão. - Voltou-se para ver se a padiola estava terminada e, de repente, ficou com um ar danado. - Que raio está esse a fazer aqui - perguntou, o olhar fixo no tenente francês, o qual observava Harper a estender cuidadosamente Hagman na padiola.
- Ele vai ser julgado - disse Vicente teimosamente -, por isso está aqui sob prisão e sob a minha protecção pessoal.
- Raisparta! - explodiu Sharpe.
- É uma questão de princípio - insistiu Vicente.
- De princípio! - exclamou Sharpe. - É mas é uma questão de grande estupidez, de grande estupidez de advogado! Estamos metidos num raio de uma guerra, não num tribunal de uma cidade de Inglaterra. - Sharpe apercebeu-se da confusão de Vicente. - Está bem, que se lixe - rosnou ele. Quanto tempo vamos levar para chegar a Vila Real de Zedes?
- Devemos lá chegar amanhã de manhã - disse Vicente, frio, olhando, depois, para Hagman -, desde que ele não nos atrase demasiado.
- Estaremos lá amanhã de manhã - afiançou Sharpe.
E, depois, pensou ele, resgataria Miss Savage, ficaria a saber porque havia fugido e, depois disso, que Deus o perdoasse, mataria o raio do tenente francês, com ou sem advogado.
A casa de campo dos Savage, a que chamavam a Quinta de Zedes, não ficava propriamente em Vila Real de Zedes, mas no alto de uma montanha, ao sul da aldeia. Era uma bela casa, com as paredes caiadas orladas a alvenaria, salientando as linhas elegantes de um pequeno solar, à frente do qual se estendiam os, em tempos, vinhedos reais. As persianas eram azuis e as altas janelas do rés-do-chão estavam decoradas com vitrais, representando o brasão da família a que, outrora, pertencera a Quinta de Zedes. Mister Savage havia comprado o solar juntamente com a vinha e, como a casa tinha um grande pé-direito, um grosso telhado e estava rodeada de árvores donde pendiam glicínias, resultava agradavelmente fresca no Verão, daí que a família Savage para ali se mudasse no mês de junho, só regressando em Outubro à House Beautiful, no alto da colina do Porto. Depois, Mister Savage morrera de uma congestão e a casa ficara desabitada desde então, salvo a permanência de meia-dúzia de criados, os quais viviam nas traseiras e cultivavam a pequena horta, todos os domingos percorrendo o sinuoso caminho para a aldeia, para assistirem à missa. Havia uma capela na Quinta de Zedes e, nos velhos tempos, quando os detentores do brasão viviam nos amplos quartos frios, os criados podiam assistir à missa na capela da família, mas Mister Savage era um protestante ferrenho e mandara retirar o altar, remover os santos e caiar as paredes da capela, a qual passou a servir de despensa.
Os criados haviam ficado surpreendidos quando Miss Kate lá aparecera sozinha, mas receberam-na com todo o respeito e entregaram-se à tarefa de tornar confortáveis os amplos compartimentos. Retiraram da mobília os lençóis que a protegiam do pó, os morcegos foram escorraçados das traves e abriram as persianas pintadas de azul-pálido para deixarem entrar o sol primaveril. Acenderam as lareiras para secar a resistente humidade do Inverno, embora no fim de tarde do dia da sua chegada Kate não se tivesse instalado junto de uma lareira, antes permanecendo na varanda por cima do pórtico da entrada, olhando para o caminho ladeado pelas glicínias que pendiam dos cedros. As sombras da tarde estendiam-se, mas não surgiu ninguém.
Nessa noite, Kate teve muita dificuldade em adormecer, mas, na manhã seguinte, recuperara toda a energia, pondo-se a varrer, perante os vivos protestos da criadagem, o átrio de entrada, um espaço glorioso de mármore branco e preto, em xadrez, com uma curva escada de mármore para o andar de cima. Depois, insistiu em limpar o pó da lareira da grande sala de visitas, a qual era decorada com azulejos representando a Batalha de Aljubarrota, em que D. João I humilhara os castelhanos. Mandou arejar um segundo quarto, a cama feita e a lareira acesa e, depois, voltou a instalar-se na varanda por cima do pórtico a olhar para o caminho, até que, ao soar o meio-dia no sino de Vila Real de Zedes, viu surgir por entre os cedros dois cavaleiros, o coração estalando de alegria. O cavaleiro da frente era um homem alto, de costas erectas, extremamente elegante, mas, ao mesmo tempo, envolto num ar de tragédia, pois a sua mulher tinha morrido ao dar à luz um bebé, o qual também morrera, e, ao pensar na dor que aquele belo homem devia ter sentido, as lágrimas assomaram aos olhos de Kate. Porém, o homem, então, ergueu-se nos estribos e acenou-lhe e Kate sentiu a felicidade a voltar-lhe, correndo escadas abaixo para saudar o seu amor à entrada da casa.
Christopher desmontou. Luís, o criado, montava o segundo cavalo, transportando a mala cheia da roupa de Kate que Christopher retirara da House Beautiful, quando a mãe dela partira. Christopher atirou as rédeas a Luís, correu para a casa, galgou os degraus da entrada e tomou Kate nos braços. Beijou-a, passou-lhe a mão pela nuca e pelo pescoço e sentiu-a estremecer.
- Não consegui vir ontem à noite, meu amor - disse ele. - O dever não me permitiu.
- Eu sabia que era uma questão de dever - disse Kate, a cara radiante ao olhar para ele.
- Nada mais me poderia afastar de si, nada no mundo - disse Christopher, inclinando-se para lhe beijar a testa, recuando depois um passo para lhe olhar para a cara, sempre a pegar-lhe nas mãos. Ela era, pensou ele, a mais bela moça da criação e encantadoramente modesta, pois ficara ruborizada e pusera-se a rir de embaraço, quando ele a fixara. - Kate, Kate - disse ele, em tom de lamúria -, vou passar o resto da minha vida a olhar para si.
Kate tinha cabelo preto e usava-o puxado para trás a partir da testa, mas com dois grandes caracóis a caírem onde os hussardos franceses usavam as suas cadenettes. Tinha uma boca cheia, o nariz pequeno e uns olhos que eram comovedoramente sérios num momento e brilhantes de divertidos no momento seguinte. Tinha dezanove anos, pernas finas, elegantes, era cheia de vida, de confiança e, por então, cheia de amor pelo seu belo homem, o qual envergava um casaco preto liso, calças de montar brancas e tricórnio, donde pendiam duas borlas douradas.
- Falou com a minha mãe? - perguntou ela.
- Deixei-a com a promessa de que viria procurá-la. Kate estava com ar de culpa.
- Eu devia ter-lhe dito...
- A sua mãe quereria vê-la casada com um homem de posses, em segurança, na Inglaterra - disse Christopher -, e não com um aventureiro como eu. Contudo, a verdadeira razão que levaria a mãe de Kate a opor-se ao casamento da filha com Christopher era que ela própria esperava casar com ele. Entretanto, porém, o coronel tomara conhecimento das disposições testamen-tárias de Mister Savage e desviara as atenções para a filha.
-Não servia de nada pedir a bênção dela - continuou ele - e se lhe tivesse contado o que planeámos ela ter-se-ia, certamente, oposto a nós.
- Talvez não - sugeriu Kate timidamente.
- Mas, assim - disse Christopher -, é-nos indiferente a desaprovação da sua mãe e, quando ela vier a saber que nos casámos, estou convencido que se disporá a aceitar-me.
- Casarmos? - Claro - disse Christopher. - Acha que eu não me preocupo com a sua honra? - exclamou ele, rindo-se perante a expressão tímida na cara dela. - Há um padre na aldeia - continuou ele - que, estou certo, se disporá a casar-nos.
- Mas eu não estou... - começou Kate, depois passando a mão pelo cabelo e pelo vestido e ficando ainda mais ruborizada.
- Você está muito bem - disse Christopher, prevendo o protesto dela está encantadoramente linda.
Kate corou ainda mais e passou a mão pela gola do vestido que escolhera cuidadosamente, entre a roupa de Verão guardada na Quinta. Era um vestido inglês de linho, bordado com jacintos entrelaçados com folhas de acanto, e que ela sabia que lhe ficava bem.
- Acha que a minha mãe me vai perdoar? - perguntou ela. Christopher duvidava muito.
- Claro que sim - prometeu ele. - já assisti a situações semelhantes. A sua querida mãe só deseja o seu bem e, quando me conhecer melhor, vai reconhecer que eu vou cuidar de si como nenhum outro.
- Tenho a certeza que sim, que ela vai reconhecer isso - disse Kate, convicta.
Nunca percebera bem porque o coronel Christopher tinha tanta certeza de que a mãe não o aceitaria de bom grado. Ele dizia que era por ele ser vinte e um anos mais velho do que Kate, mas parecia muito menos e ela tinha a certeza de que ele a amava. Homens casados com mulheres muito mais jovens era coisa comum, por isso Kate achava que a mãe não se iria opor por uma questão de idades, mas Christopher dizia, também, que era um homem relativamente pobre e que isso, dizia ele, iria, decerto, indignar a mãe dela, o que, pensava Kate, era mais que provável. A pobreza de Christopher, porém, não a ofendia, antes pelo contrário, tornava o amor deles mais romântico e, agora, ia casar com ele.
Ele conduziu-a, ao descerem os degraus da entrada.
- Há aqui alguma carruagem?
- Há uma velha charrete, na cocheira.
- Então, vamos a pé até à aldeia e Luís vai levar a charrete, para voltarmos.
- Agora?
- Ontem - disse Christopher solenemente - teria sido já tarde para mim, meu amor.
Mandou Luís engatar a charrete e pôs-se a rir.
- Eu estive quase a chegar mal acompanhado!
- Mal acompanhado?
- O raio de um engenheiro tonto, desculpe o meu vocabulário militar, queria mandar um pobre de um tenente salvá-la! Ele e o seu pelotão de vagabundos. Tive de o mandar embora. ”Vá-se embora e não hesite em cumprir a ordem que lhe dou”, disse-lhe eu. Pobre rapaz.
- Porquê pobre rapaz?
- Minha querida! Alguns trinta e cinco anos de idade e ainda é tenente? Sem dinheiro, sem futuro e com um peso nos ombros do tamanho do rochedo de Gibraltar. - Colocou o braço dela no dele e levou-a pela avenida das glicínias. - O que é estranho é que eu conheço esse tenente por ouvir falar dele. Nunca ouviu falar de Lady Grace Hale? Ou de Lorde William Hale?
- Nunca ouvi falar em nenhum deles - disse Kate.
- Que vida pacata você levava no Porto! - disse Christopher em tom alegre. - Lorde William era um homem muito honesto. Eu trabalhei muito perto dele no Foreign Office, durante algum tempo, mas, depois, ele foi para a índia em serviço oficial e teve a pouca sorte de regressar num navio de guerra que participou na Batalha de Trafalgar. Deve ter sido de uma bravura pouco comum, pois morreu na batalha, mas, depois, houve um grande escândalo, porque a viúva foi viver com um oficial de fuzileiros e esse oficial era o tenente de que lhe falo.
- Ele não é um cavalheiro?
- Não nasceu, decerto, como tal - disse Christopher. - Hoje em dia, sabe-se lá onde o exército vai buscar os seus oficiais, mas este deve ter sido arrancado debaixo de uma rocha. E Lady Grace passou a viver com ele! Coisa extraordinária. Não há dúvida que algumas senhoras bem-nascidas gostam de pescar em águas turvas e acho que ela era uma delas - disse ele, abanando a cabeça, desaprovador. - E o pior - continuou ele - é que ela ficou grávida e morreu ao dar à luz.
- Pobre senhora! - exclamou Kate, admirada por o seu amante ser capaz de contar a história tão calmamente, pois ela devia fazer recordar-lhe a morte da própria mulher. - E que aconteceu ao bebé?
- Acho que a criança também morreu, mas foi talvez melhor assim. Pôs fim ao escândalo. E que futuro podia ter semelhante criança? De qualquer modo, o pai da criança era precisamente o patifório que a devia levar para o outro lado do rio. Eu mandei-o passear. - Christopher riu-se, ao recordar-se do episódio. - Ele ficou irritado, gritou-me que tinha recebido ordens, mas eu não o aturei e disse-lhe para desaparecer. Era o que faltava, ver um canalha daqueles a espreitar o meu casamento!
- Tem toda a razão - concordou Kate.
- Claro que não lhe disse que sabia da reputação dele. Não havia razão para estar a embaraçá-lo.
- Fez muito bem - disse Kate, apertando o braço do amante.
Luís apareceu atrás deles, guiando uma velha charrete cheia de pó, à qual engatara o seu cavalo.
Christopher parou a meio do caminho para a aldeia e apanhou alguns dos delicados narcisos silvestres que cresciam na berma da estrada e insistiu em entrançar as flores amarelas no cabelo preto de Kate. Depois tornou a beijá-la, disse-lhe que ela era linda e Kate achou que aquele ia ser o dia mais feliz da sua vida. O sol brilhava, a brisa agitava as flores luzidias dos prados e tinha o seu homem ao lado.
O padre José, que Christopher, a caminho da quinta, avisara, estava à espera na igreja, mas, antes de iniciar qualquer cerimónia, puxou Christopher à parte.
- Eu estou muito preocupado - disse o padre -, pois acho que o que pretende não é correcto.
- Não é correcto porquê, padre?
- O senhor é protestante? - perguntou o padre e, quando Christopher aquiesceu com a cabeça, suspirou, - A Igreja diz que só podemos casar os que aceitam os nossos sacramentos.
- A vossa Igreja tem razão - disse Christopher, em tom emoliente. Olhou para Kate, de pé, sozinha, na capela-mor, e achou que ela, com as flores amarelas metidas no cabelo, parecia um anjo. - Diga-me uma coisa, padre - prosseguiu ele -, cuida dos pobres da sua paróquia?
- É um dever cristão - retorquiu o padre José.
Christopher tirou uns guinéus de ouro do bolso. Não eram dele, mas dos fundos do Foreign Office para lhe facilitar a missão. Meteu as moedas na mão do padre, dizendo:
- Permita-me esta minha contribuição para a sua missão de caridade e que lhe peça que nos dê a sua bênção. É só isso o que lhe peço, padre. Uma bênção em latim, padre, que invoque a protecção divina sobre nós, nestes tempos revoltos. E, mais tarde, quando a guerra acabar, eu vou convencer Kate a ser instruída por si, e eu também, claro.
O padre José, que era filho de um camponês, olhou para as moedas, pensou que nunca tinha visto tanto dinheiro ao mesmo tempo e como aquele dinheiro podia resolver tantas dificuldades.
- Não lhes posso rezar uma missa - insistiu ele.
- Eu não quero missa nenhuma - disse Christopher -, eu não mereço uma missa. Só quero uma bênção em latim.
Ele queria que Kate acreditasse que ficava casada e, no que lhe dizia respeito, a ele, Christopher, era-lhe indiferente o que o padre pronunciasse, mesmo que fossem as palavras rituais de um funeral.
- Só quero a sua bênção, padre, e é tudo. Uma bênção sua, de Deus e dos santinhos.
Tirou mais umas moedas do bolso e entregou-as ao padre, o qual se pôs a pensar que uma oração de bênção não fazia mal a ninguém.
- Mas, depois, catequizam-se? - perguntou o padre José.
- Há anos que sinto o chamamento de Deus para a vossa Igreja - disse Christopher - e acho que devo seguir esse apelo. E então, padre, poderá casar-nos adequadamente.
O padre, então, beijou o escapulário, colocou-o sobre os ombros, dirigiu-se ao altar, onde ajoelhou, fazendo o sinal da cruz, erguendo-se depois e voltando-se a sorrir para Kate e para o homem alto e elegante ao lado dela. O padre não conhecia Kate muito bem, dado que a família Savage não se dava muito com os aldeãos e de modo nenhum frequentava a igreja, mas os criados da Quinta, diziam muito bem dela e o padre José, embora celibatário por opção, sabia ver que aquela rapariga era uma beleza rara e, por isso, foi com uma voz cálida que invocou a bondade de Deus e dos santos para aquelas duas almas. Sentia-se culpado por o casal poder comportar-se como casados, embora o não fossem, mas essas coisas eram muito comuns e, em tempo de guerra, um padre tinha de fechar os olhos a muita coisa.
Kate ouviu o latim de que não compreendia uma palavra e, ao olhar para o altar atrás do padre, onde uma cruz de prata brilhava ligeiramente, tapada por um véu negro, porque era a Quaresma, sentiu o coração a bater, sentiu a mão do amante firmemente entrelaçada na sua e sentiu vontade de chorar de felicidade. O futuro parecia-lhe dourado, espalhando a luz do sol, calor e flores à frente dela. Não era propriamente o casamento com que sonhara. Sempre pensara que regressaria a Inglaterra, que ela e a mãe consideravam a pátria, para ali percorrer a coxia de uma igreja de aldeia, cheia de parentes rubicundos, recebendo uma chuvada de pétalas e de grãos de arroz, para depois seguir numa carruagem para uma taberna com arcadas, para um jantar de bife, cerveja e vinho tinto. Sem embargo, não podia sentir-se mais feliz, ou talvez pudesse, se a mãe estivesse ali na igreja. Consolou-se, porém, porque iriam reconciliar-se, tinha a certeza disso e, de repente, Christopher apertou-lhe a mão com tanta força que lhe doeu.
- Diz que sim - minha querida, ordenou ele. Kate corou.
- Sim, sim - disse ela -, sem dúvida que sim.
O padre José sorriu. O sol espreitava pelas estreitas janelas da igreja, ela tinha flores no cabelo e o padre José ergueu a mão para abençoar James e Katherine com o sinal da cruz e, nesse preciso momento, a porta da igreja abriu-se de par em par, deixando entrar uma inundação de sol e a mancha de um monte de esterco lá fora.
Kate voltou-se e viu soldados à porta. Os homens estavam recortados pela luz do Sol, por isso não os distinguia muito bem, mas via-lhes as armas aos ombros e, supondo que eram franceses, ofegou de medo, mas o coronel Christopher não parecia nada preocupado, voltando-lhe a cara para a dele e beijando-a nos lábios.
- Estamos casados, minha querida - disse ele meigamente.
- James! - exclamou ela.
- Minha querida, minha muito querida Kate - respondeu o coronel com um sorriso -, minha querida, minha muito querida esposa.
Depois voltou-se, ao ouvir passos ásperos na pequena nave. Eram passos lentos, pesados, as botas cardadas a soarem inadequadamente alto nas pedras antigas. Um oficial dirigia-se ao altar. Tinha deixado os homens à porta da igreja e avançava sozinho, a comprida espada a tilintar na bainha de metal à medida que ele se aproximava. Depois parou e fixou o olhar na cara pálida de Kate que estremeceu, porque o oficial tinha uma cicatriz na cara e era um soldado com um uniforme verde todo esfarrapado, de cara dura, curtida pelo sol e com um olhar que só podia ser descrito como impudente.
- Chama-se Kate Savage? - perguntou ele, para surpresa dela, pois ele falara em inglês e ela pensara que ele era francês.
Kate ficou calada. O marido estava ao lado dela e ia protegê-la daquele homem horrível, assustador e insolente.
- É mesmo você, Sharpe? - questionou o coronel Christopher. - Por Deus, é mesmo ele! - estava estranhamente nervoso e a voz saiu-lhe demasiado aguda, tendo de esforçar-se para a dominar. - Que raio faz você aqui? Eu mandei-o seguir para sul do rio, raios o partam.
- Fiquei com o caminho cortado, meu Coronel - disse Sharpe, sem olhar para Christopher, antes mantendo o olhar fixo na cara de Kate, emoldurada pelos narcisos no cabelo. - Os Sapos cortaram-me o caminho, meu Coronel, uma quantidade deles, por isso corri com eles e vim à procura de Miss Savage.
- Que já não existe - disse Christopher friamente -, mas deixe-me apresentar-lhe a minha mulher, Sharpe, Mrs. James Christopher.
E Kate, ao ouvir o seu novo nome, pareceu-lhe que o coração lhe ia rebentar de felicidade. Porque ela julgava que estava casada.
Os recentemente unidos coronel e Mrs. Christopher regressaram à Quinta na poeirenta charrete, deixando Luís e os soldados a segui-los a pé. Hagman, ainda vivo, seguia agora num carro de mão, embora o sacolejar do veículo sem molas parecesse causar-lhe mais dores do que a anterior padiola. O tenente Vicente também parecia doente. Na verdade, estava tão pálido que Sharpe receou que o antigo advogado tivesse apanhado alguma moléstia nos últimos dias.
- Tem de ser visto pelo médico, quando ele vier ver Hagman - disse Sharpe.
Havia um médico na aldeia que já havia examinado Hagman, tendo afirmado que ele estava moribundo, mas que prometera ir à Quinta nessa tarde, para ver o paciente de novo.
- Você está com o ar de quem lhe dói a barriga.
- Isto não é nenhuma doença - disse Vicente -, não é nada que o médico possa curar.
- Então o que é?
- É Miss Katherine - disse Vicente, desolado.
- Kate? - exclamou Sharpe. - Você conhece-a? Vicente fez que sim com a cabeça.
- Todos os jovens do Porto conhecem Kate Savage. Quando ela partiu para ir estudar em Inglaterra, ansiámos por ela e, quando ela voltou, foi como se o Sol aparecesse.
- Ela é bastante bonita - concedeu Sharpe, olhando depois de novo para Vicente, ao aperceber-se do que as palavras dele significavam. - Oh, raisparta! - disse ele.
- O quê? - perguntou Vicente, ofendido.
- Não me convém nada que esteja apaixonado - disse Sharpe.
- Mas eu não estou apaixonado - disse Vicente, ainda ofendido, mas não havia dúvida de que tinha um fraco por Kate.
Nos dois últimos anos, tinha passado o tempo a olhar de longe para ela, a pensar nela ao escrever os seus poemas, a recordá-la quando estudava a sua filosofia, tecendo fantasias a respeito dela ao folhear os velhos livros de direito. Ela era a Beatriz do Dante que ele era, a inatingível rapariga inglesa da grande casa da colina e, agora, casara com o coronel Christopher.
E isso, pensou Sharpe, explicava o tolo desaparecimento da menina tonta. Escapara à mãe. Porém, o que Sharpe não compreendia era porque ela havia de esconder aquele amor da mãe, a qual decerto o aprovaria. Christopher, pelo que Sharpe sabia, era bem-nascido, rico, bem-educado e um cavalheiro: tudo coisas que Sharpe não era.
Christopher estava muito irritado e, quando Sharpe chegou à Quinta, o coronel enfrentou-o dos degraus da entrada da casa e tornou a exigir uma explicação para a presença do tenente em Vila Real de Zedes.
- Já lhe disse - afirmou Sharpe -, cortaram-nos o caminho. Não conse-guimos atravessar o rio.
- Meu Coronel - lançou Christopher, ficando depois à espera que Sharpe repetisse as palavras, mas Sharpe nada disse, limitando-se a olhar para o átrio da casa, por trás do coronel, onde via Kate a retirar roupa da grande mala de couro.
- Você recebeu as minhas ordens - disse Christopher.
- Nós não pudemos atravessar o rio - disse Sharpe - porque já não havia ponte. A ponte partiu-se. Por isso fomos para a barcaça, mas os Sapos queimaram-na. Agora vamos a caminho de Amarante, mas não podemos utilizar as estradas principais, porque os Sapos estão a enxameá-las como percevejos. E eu não posso andar depressa porque tenho um homem ferido. Não haverá por aí um quarto onde ele possa passar a noite?
Christopher ficou calado uns momentos. Continuava à espera que Sharpe dissesse ”meu Coronel”, mas o tenente permaneceu teimosamente em silêncio. Christopher suspirou e olhou para o vale, onde um milhafre desenhava círculos no ar.
- Está a pensar em ficar aqui esta noite? - perguntou Christopher com ar distante.
- Estamos a marchar desde as três da manhã - disse Sharpe.
Não tinha bem a certeza se partira às três da manhã, pois não tinha relógio, mas achava que devia ter sido por volta dessa hora.
- Agora, precisamos de descansar - concluiu ele - e depois pomo-nos a marchar de novo amanhã, antes da alvorada.
- Os franceses - disse Christopher - vão estar em Amarante.
- Claro que estarão - disse Sharpe -, mas que posso eu fazer? Christopher retraiu-se, perante o ar carrancudo de Sharpe, depois estremeceu ao ouvir Hagman gemer.
- Há umas cocheiras por detrás da casa - disse ele em tom frio -, metam lá o ferido. E quem raio é aquele ali? - perguntou, ao ver o prisioneiro de Vicente, o tenente Olivier.
Sharpe voltou-se para ver para onde olhava o coronel.
- É um sapo - respondeu Sharpe - a quem vou cortar o pescoço. Christopher olhou horrorizado para Sharpe.
- Um sapo a quem... - começou ele, mas nesse momento Kate veio do interior da casa e colocou-se ao lado dele.
Christopher colocou um braço em volta dos ombros de Kate e, com um olhar irritado a Sharpe, elevou a voz para chamar o tenente Olivier.
- Monsíeur! Venez ici, s’il vous plai. (Em francês no original. ”Senhor! Chegue aqui, por favor.” N. do T.)
- Ele é um prisioneiro - disse Sharpe.
- Ele não é um oficial? - perguntou Christopher, enquanto Olivier abria caminho por entre os silenciosos homens de Sharpe.
- É um tenente - disse Sharpe - do 18º Regimento de Dragões. Christopher lançou a Sharpe um olhar chocado.
- É costume - disse ele friamente - aceitar a palavra de honra dos oficiais. Onde está a espada do tenente?
- Ele não é meu prisioneiro - disse Sharpe - mas do tenente Vicente. O tenente é advogado e, calcule, tem a estranha ideia de que o homem deve ser julgado, mas eu tencionava enforcá-lo.
Kate soltou um gritinho de horror.
- É melhor ires lá para dentro, minha querida - sugeriu Christopher, mas ela não se mexeu e ele não insistiu. - Porque é que o ia enforcar?
- Porque ele é um violador - disse Sharpe ríspido, de imediato Kate soltou novo gritinho. Christopher desta vez empurrou-a para dentro de casa.
- Tento na língua - disse Christopher em tom gelado - quando a minha mulher estiver presente,
- Havia uma senhora presente, quando este sacana violou uma miudinha - disse Sharpe. - Apanhámo-lo com as calças nos tornozelos e o equipamento de fora. Que queria que eu fizesse? Que lhe oferecesse um copo e o convidasse para jogar às cartas?
- Ele é um oficial e um cavalheiro - disse Christopher, mais preocupado por Olivier pertencer ao 18º Regimento de Dragões, o que significava que prestava serviço no mesmo regimento que o capitão Argenton. - Onde está a espada dele?
Foi-lhe apresentado o tenente Vicente, o qual estava na posse da espada de Olivier e Christopher insistiu que a espada fosse devolvida ao francês. Vicente tentou explicar que Olivier era acusado de um crime e que devia ser julgado por isso, mas o coronel Christopher, falando o seu impecável português, rebateu a ideia.
- As convenções de guerra, nosso Tenente - disse ele -, não permitem o julgamento dos oficiais militares como se fossem civis. Devia saber isso se, como Sharpe diz, é advogado. O julgamento civil de um prisioneiro de guerra abriria a possibilidade da reciprocidade. Julgue esse homem e execute-o e os franceses vão fazer o mesmo a todo o oficial português que capturarem. Está a compreender?
Vicente via o peso do argumento, mas não desistia.
- Ele é um violador - insistiu.
- É um prisioneiro de guerra - contradisse Christopher - e vai deixá-lo sob a minha custódia.
Vicente tentou ainda resistir. Christopher, no fim de contas, estava à paisana.
- Ele é prisioneiro do meu exército - disse Vicente, obstinado.
- E eu - disse Christopher desdenhosamente - sou um tenente-coronel do exército de Sua Majestade britânica e isso significa, acho eu, que sou seu superior, nosso Tenente, e que, portanto, tem de obedecer às minhas ordens, sob pena de enfrentar consequências militares.
Vicente, ultrapassado e vencido, recuou e Christopher, com uma ligeira inclinação da cabeça, entregou a espada a Olivier.
- Quer dar-me a honra de esperar dentro de casa? - sugeriu ele ao francês. Quando o muito mais aliviado Olivier entrou, Christhoper foi à beira dos degraus de entrada e olhou, por cima da cabeça de Sharpe, para uma nuvem de pó que se estava a formar num caminho que derivava da distante estrada principal. Um grande corpo de cavalaria aproximava-se da aldeia e Christopher compreendeu que devia ser o capitão Argenton e a sua escolta. Um ar de alarme perpassou pela cara dele, o olhar pousando em Sharpe, logo de novo se fixando na cavalaria que se aproximava.
- Sharpe - disse ele -, você está de novo sob as minhas ordens.
- Se o meu Coronel o diz - disse Sharpe, com ar relutante.
- Então, vai ficar aqui de guarda à minha mulher - disse Christopher. Esses cavalos são seus? - perguntou, apontando para a dúzia de cavalos capturados em Barca de Avintes, alguns dos quais ainda arreados. - Preciso de dois deles. - Correu para o átrio de entrada e fez sinal a Olivier: - Monsieur! O senhor vem comigo e vamos partir já. Minha querida! - continuou, pegando na mão de Kate. - Vais ficar aqui até eu voltar. Não me demoro. Uma hora, no máximo.
Inclinou-se para lhe beijar as mãos, depois apressou-se a sair, montou no cavalo mais próximo, aguardou que Olivier montasse e os dois homens cavalgaram caminho adiante.
- Você fica aqui, Sharpe! - gritou Christopher ao partir. - Não saia daqui! É uma ordem!
Vicente ficou a olhar para Christopher e para o tenente dos dragões a afastarem-se.
- Por que é que ele levou o francês com ele?
- Só Deus sabe! - disse Sharpe.
Enquanto Dodd e três outros fuzileiros levavam Hagman para as cocheiras, Sharpe subiu para o último degrau da entrada e sacou do magnífico óculo, apoiando-o num belo vaso de pedra que decorava o terraço. Orientou a lente para a cavalaria que se aproximava e viu que eram dragões franceses. Uma centena deles, ou talvez mais. Sharpe conseguia ver as casacas-verdes, as caras coradas, as espadas direitas e as coberturas de tecido castanho que cobriam os capacetes, observando que os cavaleiros travavam as suas montadas ao verem surgir Christopher e Olivier de Vila Real de Zedes. Sharpe passou o óculo a Harper.
- Porque é que aquele grande cabrão está a falar com os Sapos?
- Só Deus sabe, meu Tenente - disse Harper.
- Observe-os, Pat, observe-os - disse Sharpe -, e, se eles se aproximarem, avise-me.
Dirigiu-se, então, para a porta da casa, dando-lhe uma pancada sonora. O tenente Vicente já se encontrava no átrio de entrada, os olhos fitos com devoção canina em Kate Savage, agora Kate Christopher. Sharpe tirou o quépi e passou a mão pelo cabelo recentemente cortado.
- O seu marido foi falar com os franceses - disse ele, observando a expressão de desaprovação na cara de Kate, sem saber se era por Christopher estar a falar com os franceses, ou por ele, Sharpe, lhe estar a dirigir a palavra. - Porquê? - perguntou ele.
- Tem de lhe perguntar a ele, tenente - disse ela.
- O meu nome é Sharpe.
- Eu sei o seu nome - retorquiu Kate friamente.
- Richard para os amigos.
- Ainda bem que tem amigos, Mister Sharpe - disse Kate.
Kate encarava-o abertamente e Sharpe pensou como ela era uma beleza. Tinha o gênero de cara que os pintores imortalizavam em quadros e não admirava nada que Vicente e o seu bando de poetas e de filósofos ingénuos a adorassem de longe.
- Mas, então, minha senhora, porque é que o coronel Christopher está a falar com os Sapos?
Kate pestanejou, surpreendida, não por o marido estar a falar com inimigo, mas porque, pela primeira vez, a tratavam por minha senhora.
- já lhe disse, tenente - disse ela com certa aspereza -, tem de lhe perguntar a ele.
Sharpe passeou-se em redor do átrio. Admirou a escada curva de mármore, olhou para a tapeçaria que representava caçadores a perseguirem um veado, fixando depois o olhar em dois bustos colocados em nichos opostos. Os bustos tinham sido, obviamente, importados de Inglaterra pelo falecido Mister Savage, pois um representava John Milton e o outro tinha a indicação de se tratar de John Bunyan.
- Eu fui enviado para a vir buscar - disse ele para Kate, continuando a olhar para John Bunyan.
- Para me vir buscar, Mister Sharpe?
- Um certo capitão Hogan mandou-me a sua procura - disse-lhe ele - com ordens para a levar à sua mãe. Ela estava muito preocupada consigo.
Kate ficou toda ruborizada.
- Não há razão nenhuma para a minha mãe se preocupar. Eu, agora, tenho um marido.
- Agora? Casaram esta manhã? Foi o que nós vimos na igreja?
- Isso não lhe diz respeito - disse Kate firmemente.
Vicente estava com um ar abatido, a pensar que Sharpe estava a maçar a mulher que ele adorava em silêncio.
- Se está casada, minha senhora, de facto não me diz respeito - disse Sharpe, pois eu não posso separar uma mulher casada do seu marido, não é verdade?
- Não pode, não, não pode - disse Kate -, e nós’casámos de facto esta manhã.
- As minhas felicitações, minha senhora - disse Sharpe, parando, depois, para admirar um velho relógio. Tinha um mostrador decorado com luas sorridentes e uma etiqueta de metal, onde se lia ”Thomas Topion, London”. Abriu o armário de madeira polida e puxou os pesos para baixo, de modo que o mecanismo começou a trabalhar. - Acho que a sua mãe vai ficar muito contente, minha senhora.
- Isso tão-pouco lhe diz respeito - disse Kate, refreando-o.
- É uma pena que ela não tenha podido estar’aqui, não é? A sua mãe estava desfeita em lágrimas, quando a vi partir. - Sharpe voltou-se para ela. - Ele é realmente coronel?
A pergunta apanhou Kate completamente de surpresa, especialmente depois da desconcertante notícia de que a mãe tinha chorado. Corou, depois fez por compor um ar digno e ofendido.
- Claro que é coronel - disse ela, indignada - e o senhor é um impudente, Mister Sharpe.
Sharpe pôs-se a rir. A cara dele era dura em repouso, em virtude da cicatriz na face, mas quando sorria ou ria, a dureza desaparecia e Kate, para seu espanto, sentiu o coração falhar uma batida. Recordara-se da história que Christopher lhe contara, como Lady Grace destruíra a sua reputação por viver com aquele homem. O que é que Christopher dissera? Ah, pescar em águas turvas. De súbito, porém, Kate invejou Lady Grace e, depois, lembrando-se que tinha casado havia menos de uma hora, sentiu uma grande vergonha de si própria. Não obstante, pensou, aquele canalha era extremamente atraente quando sorria e estava ali, agora, a sorrir para ela.
- Tem muita razão - disse Sharpe -, eu sou impudente. Sempre o fui e, provavelmente, sempre o serei, por isso lhe peço desculpa, minha senhora.
- E, olhando de novo em redor do átrio, perguntou: - Esta casa é da sua mãe?
- Esta casa é minha - disse Kate - desde que o meu pai morreu. E, agora, acho eu, pertence ao meu marido.
- Eu trago um homem ferido e o seu marido disse-me para o pôr na cocheira, mas eu não gosto de colocar feridos nas cocheiras, quando há quartos disponíveis.
Kate corou, embora Sharpe não soubesse porquê, apontando depois para uma porta ao fundo do átrio.
- Os criados estão instalados junto da cozinha - disse ela - e acho que há por lá um quarto bastante cómodo. - Afastou-se de lado e apontou de novo para a porta. - Porque é que não vai lá ver?
- Sim, eu vou ver, minha senhora - disse Sharpe, mas, em vez de ir explorar as traseiras da casa, continuou ali, a olhar para ela.
- O que é que se passa? - perguntou Kate, incomodada com os olhos negros dele.
- Eu queria simplesmente felicitá-la, minha senhora, pelo seu casamento - disse Sharpe.
- Muito obrigada, tenente - disse Kate.
- Casar à pressa - disse Sharpe, fazendo uma pausa e, ao ver a irritação aflorar aos olhos dela, sorrindo de novo - é uma coisa que muita gente faz em tempo de guerra. Eu vou dar a volta por fora da casa, minha senhora.
Deixou-a entregue à admiração de Vicente e juntou-se a Harper no terraço.
- O sacana ainda está a falar com eles? - perguntou ele.
- O coronel ainda está a falar com os Sapos, meu Tenente - disse Harper, olhando pelo óculo -, e eles não se aproximam. O coronel é cheio de surpresas, não acha?
- Atafulhado delas - disse Sharpe - como um pudim.
- E o que é que fazemos, meu Tenente?
- Vamos levar Dan para um dos quartos dos criados, ao pé da cozinha. Esperamos que o médico o venha ver. Se o médico disser que ele pode viajar, seguimos para Amarante.
- Levamos a rapariga?
- Se está casada, não. Nada poderemos fazer com ela, se estiver casada. Nesse caso pertence ao marido, de pessoa e de bens. - Sharpe coçou o pescoço, onde um insecto o mordera. - Bela menina!
- Acha? Não notei.
- Sacana de irlandês aldrabão - disse Sharpe. Harper sorriu.
- Bom, ela é agradável à vista, meu Tenente, agradável como Poucas, mas é uma mulher casada.
- Fora de alcance, é isso?
- A mulher de um coronel? Nem pensar nisso - disse Harper. - Eu, se fosse o senhor, não pensaria nisso.
- Eu não penso nisso, Patrick - disse Sharpe -, só penso em como raio sair daqui. E como é que vamos regressar.
- Regressar ao exército? - perguntou Harper. - Ou regressar a Inglaterra?
- Sabe Deus. O que é que preferia?
Eles deviam estar em Inglaterra. Pertenciam ao segundo batalhão do 95º Regimento de Fuzileiros e esse batalhão estava aquartelado em Shomcliffe. Sharpe e os seus homens, porém, haviam-se separado dos restantes casacas-verdes durante a confusa retirada para Vigo e, por variadas razões, nunca haviam conseguido reagrupar-se. O capitão Hogan tinha muito a ver com isso. Hogan precisava de homens que o protegessem, enquanto elaborava o mapa da inóspita fronteira entre a Espanha e Portugal, e um pelotão de atiradores de primeira era uma dádiva do céu. Matreiramente, forjara cartas e documentos, obtivera soldos dos provisores e conseguira manter Sharpe e os seus homens perto da guerra.
- A Inglaterra nada me diz - disse Harper. - Estou melhor aqui.
- E os homens?
- A maior parte gosta de cá estar - disse o irlandês -, mas alguns querem regressar a casa. Cresacre, Sinis, os refilões do costume. John Williamson é o pior de todos. Passa a vida a dizer aos outros que o meu Tenente só aqui anda porque quer ser promovido e que os vai sacrificar a todos por uma promoção.
- Ele diz isso?
- E pior, meu Tenente.
- Parece-me uma boa ideia - disse Sharpe, em tom jocoso.
- Mas acho que ninguém acredita nisso, a não ser os sacanas do costume. A maior parte sabe que estamos aqui por acidente. - Harper olhou para os distantes dragões franceses, abanando depois a cabeça. - Mais cedo ou mais tarde, tenho de dar uma surra a esse Williamson.
- Você ou eu - concordou Sharpe. Harper olhou de novo pelo óculo.
- O sacana está de volta - disse Harper - e deixou o outro sacana com eles. Harper passou o óculo a Sharpe.
- Olivier?
- O cabrão deixou-o lá! - disse Harper, indignado.
Através do óculo, Sharpe viu Christopher a cavalgar de regresso a Vila Real de Zedes, acompanhado por um único homem, um civil, a julgar pela roupa, e que não era, de modo nenhum, o tenente Olivier, o qual, era evidente, seguia agora com os dragões para norte.
Aqueles Sapos devem ter-nos visto - disse Sharpe. É claro como água - concordou Harper.
E o tenente Olivier deve ter-lhes dito que nós estamos aqui - disse Sharpe -, por isso, por que raio se vão eles embora e nos deixam sossegados? - Porque o nosso homem estabeleceu um acordo qualquer com os sacanas - disse Harper, apontando para o distante Christopher com a cabeça. Sharpe perguntava-se o que levaria um oficial inglês a estabelecer acordos com o inimigo.
- Devíamos dar uma carga de porrada àquele sacana - disse ele.
- A um coronel não se pode fazer isso, meu Tenente.
- Então, devíamos dar-lhe duas cargas de porrada - disse Sharpe, brutalmente - e ficávamos logo a saber o raio da verdade.
Os dois homens calaram-se, observando Christopher a subir o caminho para a casa. O homem que o acompanhava era jovem, de cabelo ruivo e em roupa civil comum, mas o cavalo que montava tinha uma marca francesa na garupa e a sela era do tipo militar. Christopher olhou para o óculo nas mãos de Sharpe.
- Você deve estar cheio de curiosidade, Sharpe - disse ele, com desacostu-mada cordialidade.
- Estou cheio de curiosidade - disse Sharpe - de saber porque é que o nosso prisioneiro foi libertado.
- Porque eu decidi libertá-lo - disse Christopher, desmontando - e porque ele prometeu não se bater contra nós até os franceses libertarem um prisioneiro inglês da mesma patente. Tudo perfeitamente normal, Sharpe, e sem motivo para indignação. Este senhor é Monsieur Argenton que vai comigo encontrar-se com o general Cradock, em Lisboa.
O francês, ao ouvir pronunciar o seu nome, fez a Sharpe uma nervosa inclinação da cabeça.
- Nós vamos consigo - disse Sharpe, ignorando o francês. Christopher abanou a cabeça.
- Não me parece, Sharpe. Monsieur vai arranjar maneira de passarmos pela ponte do Porto, se estiver reparada e, se não estiver, ele vai arranjar-nos passagem numa barcaça e é difícil imaginar os nossos amigos franceses a permitirem que meia companhia de fuzileiros atravessem o rio debaixo do nariz deles, não acha?
- Se falar com eles, talvez - disse Sharpe. - O senhor parece ter boas relações de amizade com eles.
Christopher atirou as rédeas a Luís, fazendo depois sinal a Argenton para desmontar e acompanhá-lo para dentro de casa.
- ”Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que as que a tua filosofia sonha” - disse Christopher, passando por Sharpe e depois voltando-se:
- Eu tenho planos para si.
- Tem planos para mim? - questionou Sharpe com ar truculento.
- Acho, Sharpe, que um tenente-coronel é, no exército de Sua Majestade britânica, uma patente superior à de tenente - disse Christopher com ar sarcástico. - Sempre assim foi, o que significa, não é verdade, que você está sob o meu comando. Portanto, vai apresentar-se aqui em casa dentro de meia hora e eu dar-lhe-ei as minhas novas instruções. Entre, monsieur.
Baixou a cabeça a Argenton, olhou friamente para Sharpe e subiu os degraus da entrada.
Na manhã seguinte chovia. E estava mais frio. Cinzentas cortinas de chuva surgiam do oeste, varridas do Atlântico por um vento frio que fazia esvoaçar as glicínias das árvores esgalhadas e embatia nas persianas da casa, infiltrando-se em correntes de ar gelado que percorriam as salas. Sharpe, Vicente e os homens tinham dormido nas cocheiras, guardados por sentinelas que tremiam de frio a espreitarem a escuridão da noite húmida. Sharpe, ao fazer uma ronda a meio da noite, viu, através das persianas açoitadas, uma janela iluminada pelo brilho da luz tremeluzente de velas e pareceu-lhe ouvir um grito, como o de um animal aflito, vindo daquele andar. Por um fugaz momento, pareceu-lhe que era a voz de Kate, mas logo pensou que era imaginação sua ou, tão-somente, o vento a chiar na chaminé. Foi ver Hagman de madrugada e encontrou o velho caçador furtivo todo suado, mas vivo. Estava a dormir e, uma ou duas vezes, pronunciou um nome em voz alta. ”Amy”, dizia ele, ”Amy”. O médico vira-o na véspera a tarde. Cheirara a ferida, encolhera os ombros, dissera que Hagman ia morrer, lavara a ferida, aplicara-lhe o penso e recusara qualquer pagamento.
- Mantenham-lhe a ligadura humedecida - dissera para Vicente, que traduzia para Sharpe - e abram-lhe uma cova.
O tenente português não traduzira a última frase.
Sharpe foi chamado ao coronel Christopher pouco depois do nascer do Sol e foi encontrar o coronel sentado na sala, envolto em toalhas quentes, com Luís a barbeá-lo.
- Ele era barbeiro - disse o coronel. - Não eras barbeiro, Luís?
- E um bom barbeiro - disse Luís.
- Você parece que também precisa de um barbeiro, Sharpe - disse Christopher. - Cortou o cabelo a si próprio, não foi?
- Não, meu Coronel?
- Mas é o que parece. Parece ter sido roído pelos ratos.
A navalha fez um ligeiro ruído de arranhar ao deslizar no queixo. Luís limpou a navalha a uma flanela e tornou a escanhoar.
- A minha mulher tem de permanecer aqui - disse Christopher. - O que não me agrada nada,
- Compreendo, meu Coronel.
- Mas ela não fica em segurança em mais lado nenhum, não é? Não pode ir para o Porto. O Porto está cheio de franceses que violam tudo o que esteja vivo e até, talvez, o que esteja morto e ainda fresco. Eles não vão ter a cidade sob suficiente controlo senão dentro de dias, por isso ela tem de ficar aqui e eu ficarei muito mais descansado, Sharpe, se ela ficar protegida. Por isso, vai ficar aqui de guarda à minha mulher, vai deixar o ferido recuperar, vai descansar, a pensar nas inefáveis vias do Senhor e, dentro de uma semana, eu estarei de volta e você pode partir.
Sharpe pôs-se a olhar, pela janela, lá para fora, onde um jardineiro estava a aparar a relva, provavelmente pela primeira vez naquele ano. A segadeira deslizava por entre as pálidas flores amarelas das glicínias.
- Mistress Christopher podia acompanhá-lo para sul, meu Coronel sugeriu Sharpe.
- Não, de modo nenhum - retorquiu Christopher, - Eu já expliquei a ela que é demasiado perigoso. O capitão Argenton e eu temos de atravessar as linhas de combate, Sharpe, e tudo se tornaria muito mais difícil se levássemos uma mulher connosco.
A verdadeira razão, saltava à vista, era que ele não queria que Kate encontrasse a mãe e lhe falasse do casamento na igrejinha de Vila Real de Zedes.
- Portanto, Kate tem de ficar aqui - continuou Christopher -, e você, Sharpe, vai tratá-la com todo o respeito.
Sharpe não disse nada, ficando apenas a olhar para o coronel, o qual teve o mérito de emendar prontamente.
- Claro que o fará - disse Christopher. - Quando partir, vou ter uma conversa com o padre da aldeia, para garantir que os aldeãos vão fornecer mantimentos. Pão, feijão e carne de vaca deve bastar para uma semana, não é? E, por amor de Deus, sejam discretos, não quero os franceses a saquear esta casa. Há algumas pipas de bom vinho do Porto na adega e eu não quero os seus rufias a servirem-se dele.
- Não o farão, meu Coronel - disse Sharpe.
Na noite anterior, quando Christopher dissera a Sharpe, pela primeira vez, que ele e os seus homens tinham de ficar na Quinta, o coronel apresentara uma carta do general Cradock. A carta andara já por tanto lado que estava a desfazer-se, principalmente nas dobras, com a tinta a esvanecer-se, mas estabelecia claramente, em inglês e em português, que o tenente-coronel James Christopher estava encarregado de uma missão de suma importância, solicitando-se a todos os oficiais ingleses e portugueses que acatassem as ordens do coronel e lhe prestassem todo o auxílio que lhes fosse requerido. A carta, cuja veracidade Sharpe não tinha qualquer razão para pôr em causa, tornava bem claro que Christopher se encontrava em posição de dar ordens a Sharpe e, por isso, ele comportava-se, agora, com muito mais respeito do que na tarde anterior.
- Eles não tocarão no vinho do Porto, meu Coronel - reiterou Sharpe.
- Muito bem. Muito bem. E é tudo, Sharpe, pode ir.
- O meu Coronel vai para o sul, não é?
- Sim. já lhe disse que vamos falar com o general Cradock.
- Então, talvez me pudesse levar uma carta para o capitão Hogan, meu Coronel?
- Escreva-a depressa, Sharpe, escreva-a depressa. Eu tenho de partir. Sharpe escreveu a carta depressa. Não gostava nada de escrever, pois nunca aprendera as suas letras adequadamente, nunca frequentara a escola adequada-mente e sabia que as suas expressões eram canhestras, como a sua escrita o era, mas escreveu a Hogan a dizer-lhe que estava bloqueado a norte do rio, que recebera ordens para permanecer na Quinta de Zedes e que, logo que se visse dispensado dessas ordens, regressaria à sua missão. Previa que Christopher iria ler a carta e, por isso, não fez nenhuma menção ao coronel, nem expôs qualquer crítica às suas ordens. Entregou a carta a Christopher que, vestido à paisana e acompanhado pelo francês, também à paisana, partiu a meio da manhã. Luís seguiu atrás deles.
Kate também escrevera uma carta, essa para a mãe dela. Tinha aparecido pálida e chorosa de manhã, o que Sharpe atribuíra à iminente separação do marido, mas, na verdade, Kate estava irritada por o marido não a deixar acompanhá-lo, uma ideia que o coronel se havia recusado abruptamente a considerar.
- Onde nós vamos - insistira ele - é tudo muito perigoso. Atravessar as linhas de combate, minha querida, é extremamente perigoso e eu não posso expor-te a semelhante risco. - Ele vira como Kate ficara infeliz e tomara-lhe as mãos nas suas. - Achas que eu desejo afastar-me de ti assim tão de pronto? Não compreendes que só uma questão de dever, de um dever da maior importância me pode afastar de ti? Tens de confiar em mim, Kate. A confiança é fundamental no casamento, não achas?
E Kate, esforçando-se por não chorar, concordara que sim.
- Aqui, ficas em segurança - dissera-lhe Christopher. - Sharpe e os seus homens ficam a guardar-te. Eu sei que ele parece rude, mas é um oficial inglês e isso quer dizer que é quase um cavalheiro. E tu tens bastantes criados para te protegerem. Estás preocupada por Sharpe ficar aqui? - inquirira ele, franzindo o cenho.
- Não - dissera Kate. - Eu vou permanecer longe dele.
- Ele vai ficar contente com isso. Lady Grace tê-lo-á domesticado um pouco, decerto, mas ele continua a sentir-se pouco à vontade no meio de gente civilizada. Tenho a certeza de que ficas em segurança até eu voltar. Se estás preocupada, posso deixar-te cá uma pistola.
- Não é preciso - dissera Kate, pois sabia que havia uma pistola na velha sala de armas do pai e, de qualquer modo, achava que não necessitaria de uma pistola para deter Sharpe. - Quantos dias vais demorar? - perguntara ela.
- Uma semana. Dez dias no máximo. Nunca se sabe ao certo, com estas coisas, mas garanto-te, minha querida, que voltarei o mais depressa possível para junto de ti.
Kate entregara-lhe, então, a carta para a mãe. A carta, escrita à luz da vela antes da alvorada, dizia a Mrs. Savage que a filha a amava, que lamentava tê-la enganado, mas que, contudo, se tinha casado com um homem maravilhoso, um homem que Mrs. Savage ia, com toda a certeza, amar como se fosse um filho e que a sua filha Kate lhe prometia regressar para junto dela logo que lhe fosse possível. Entretanto, encomendava-se ela própria, a mãe e o marido à protecção divina.
O coronel James Christopher leu a carta da mulher enquanto cavalgava a caminho do Porto. Depois, leu a carta de Sharpe.
- Alguma coisa importante? - perguntou o capitão Argenton.
- Trivialidades, meu caro Capitão, meras trivialidades - disse Christopher, lendo depois segunda vez a carta de Sharpe. - Meu Deus - exclamou ele -, os ignorantes que hoje em dia eles admitem ao serviço do rei.
E, com estas palavras, rasgou ambas as cartas em pedacinhos e lançou-os a esvoaçar no frio vento carregado de chuva, de tal modo que, por momentos, os pedacinhos brancos pareciam flocos de neve atrás do cavalo dele.
- Presumo - perguntou ele a Argenton - que vamos precisar de uma autorização para atravessar o rio?
- Eu arranjo essa autorização no quartel-general - disse Argenton.
- Muito bem - disse Christopher -, muito bem.
Exprimia-se assim porque, na bolsa da sela, coisa que Argenton ignorava, tinha uma terceira carta, uma carta escrita por ele próprio, em educado e perfeito francês e dirigida, ao cuidado do quartel-general do marechal Soult, ao brigadeiro Henri Vuillard, o mais temido por Argenton e pelos seus companheiros conspiradores. Christopher sorria, recordando os prazeres da noite e antevendo os prazeres vindouros. Era um homem feliz.
Teias de aranha e musgo sussurrou Hagman. - Isso basta, meu Tenente.
- Teias de aranha e musgo? perguntou Sharpe.
- Uma cataplasma, meu Tenente, de teias de aranha, musgo e um pouco de vinagre. Embrulhada em papel pardo e bem apertada.
- Dan, o médico disse para mantermos a ligadura humedecida e mais nada.
- Nós sabemos mais do que os médicos, meu Tenente. - A voz de Hagman mal se ouvia. - A minha mãe sempre confiou na cataplasma de vinagre, musgo e teias de aranha. - Ficou em silêncio, apenas se ouvindo o silvo da respiração dele. - E papel pardo - disse ele passado um bocado. - E o meu pai, quando foi atingido por um guarda, em Dunham, no Hili, foi salvo com uma cataplasma de vinagre, musgo e teias de aranha. Era uma mulher maravilhosa, a minha mãe.
Sharpe, sentado ao lado da cama, pôs-se a pensar se teria sido diferente, se tivesse conhecido a mãe, se tivesse sido criado por uma mãe. Pensava em Lady Grace, falecida havia três anos, e que lhe dizia que ele era um homem cheio de raiva. Pensou se o que as mães faziam era afastar a raiva e, depois, fugiu da recordação de Grace, como sempre fazia. Era demasiado doloroso recordá-la. Sharpe forçou um sorriso.
- Falaste numa Amy, Dan, enquanto dormias. É a tua mulher?
- Amy! - Hagman pestanejou, surpreendido. - Amy? Há anos que não penso em Amy. Ela era a filha do prior, meu Tenente. Era a filha do prior e fazia coisas que nenhuma filha de prior devia sequer saber.
Hagman riu-se e isso devia provocar-lhe dores, pois o sorriso desvaneceu-se e ele gemeu. Sharpe, porém, achava que Hagman podia safar-se. Tinha estado cheio de febre nos dois primeiros dias, mas a febre cedera e já não suava.
- Quanto tempo vamos ficar aqui, meu Tenente?
- O tempo que for necessário, Dan, mas ao certo não sei. O coronel ordenou-me que ficasse aqui, por isso vamos ficar aqui até ele me dar novas ordens.
Sharpe ficara confiante com a carta do general Cradock e, ainda mais, ao saber que Christopher ia falar com o general, O coronel estava metido até ao pescoço em manobras estranhas, mas Sharpe, agora, perguntava-se se não teria interpretado mal as palavras do capitão Hogan, a respeito de ter Christopher debaixo de olho. Talvez o capitão Hogan quisesse dizer que queria que ele protegesse Christopher, porque a missão dele era muito importante. De todo o modo, Sharpe tinha agora as suas ordens e estava satisfeito por o coronel dispor de autoridade para as dar, embora, apesar disso, sentisse uma certa culpa por ele e os seus homens estarem a descansar na Quinta de Zedes, enquanto uma guerra continuava, algures no sul, e outra para o leste.
Ele assumia que os combates continuavam, embora não tivesse notícias nos dias que se seguiram. Por fim, apareceu na Quinta um vendedor ambulante, a vender botões, agulhas e medalhas da Virgem Maria, o qual informou que os portugueses ainda detinham a ponte de Amarante, onde se opunham a um grande exército francês. Também declarou que os franceses seguiam a caminho de Lisboa e, depois, referiu um rumor de que o marechal Soult ainda se encontrava no Porto, Um frade que passou pela Quinta a pedir comida trouxe a mesma notícia.
É uma boa notícia - disse Sharpe para Harper. Porquê, meu Tenente?
Porque Soult não ia demorar-se no Porto se houvesse a possibilidade de Lisboa cair, não é verdade? Não, se Soult permanece no Porto, então é tanto quanto os Sapos conseguiram avançar.
- Mas eles já estão a sul do rio?
- Talvez alguma cavalaria - disse Sharpe depreciativamente.
Era porém frustrante não saber o que se estava a passar e Sharpe, para seu espanto, pôs-se a desejar que o coronel Christopher voltasse, para saber como progredia a guerra.
Kate, era óbvio, desejava que o marido voltasse ainda mais que Sharpe. Nos primeiros dias depois da partida do coronel, ela tinha evitado Sharpe, mas começaram a encontrar-se cada vez mais no quarto onde se encontrava Hagman. Kate levava comida ao ferido, depois sentava-se e falava com ele e, quando se convenceu de que Sharpe não era o vil tratante que ela pensava, começou a convidá-lo para o terraço da entrada da casa, onde ela preparava chá, num bule decorado com rosas chinesas embutidas. O tenente Vicente era por vezes convidado, mas ele quase não falava, mantendo-se sentado na beira de uma cadeira a olhar para Kate em triste adoração. Se ela lhe dirigia a palavra, ele corava e gaguejava e Kate olhava para outro lado, igualmente embaraçada, embora parecesse simpatizar com o tenente português. Sharpe sentia que ela era uma mulher solitária e que sempre o fora. Uma noite, quando Vicente fazia a ronda das sentinelas, ela contou-lhe como crescera sozinha no Porto e como fora para Inglaterra para ser educada.
- Éramos três raparigas, em casa de um pároco - disse-lhe ela. Era uma noite fria e ela estava sentada junto do lume aceso na lareira de azulejos da sala. - A mulher dele ensinava-nos a cozinhar, a limpar a casa e a coser - continuou Kate - e o clérigo ensinava-nos as escrituras, algum francês, um pouco de matemática e Shakespeare.
- Muito mais do que alguma vez me ensinaram - disse Sharpe.
- Você não é a filha de um rico mercador de vinho do Porto - disse Kate com um sorriso. Atrás dela, a cozinheira tricotava. Kate, quando estava com Sharpe ou com Vicente, tinha sempre uma das criadas com ela, presumivel-mente para que o marido não tivesse motivos de suspeição. - O meu pai estava determinado a ver-me bem educada - prosseguiu Kate, parecendo reflectir.
- Era um homem estranho, o meu pai. Fazia vinho, mas não o bebia. Dizia que Deus o proibia. A adega, aqui, está cheia de bom vinho e ele todos os anos a aumentava, mas nunca abriu uma garrafa para ele próprio. - Kate estremeceu e inclinou-se para o lume. - Lembro-me que fazia sempre frio em Inglaterra. Eu detestava o frio, mas os meus pais não queriam que eu estudasse em Portugal.
- Porquê?
- Receavam que eu fosse infectada pelo catolicismo - disse ela, remexendo nas borlas da orla do xaile. - O meu pai era um ferrenho opositor do catolicismo - continuou ela, sincera - e por isso é que, no testamento, ele insistiu em que eu devia casar com um seguidor da Igreja de Inglaterra, caso contrário...
- Caso contrário?
- Eu não receberia a minha herança - disse ela.
- Agora já está segura - disse Sharpe.
- Sim - disse ela, olhando para cima, para ele, a luz do lume da lareira reflectindo-se-lhe nos olhos -, sim, agora já.
- É uma herança que valha a pena? - perguntou Sharpe, suspeitando que a pergunta era indelicada, mas movido pela curiosidade.
- Esta casa, a vinha - disse Kate, sem parecer ofendida -, a cave onde se faz o vinho do Porto. Ficará tudo para mim, embora a minha mãe, como é óbvio, detenha o usufruto.
- Porque é que ela não voltou para Inglaterra?
- Ela vive aqui há mais de vinte anos - disse Kate -, por isso tem aqui as suas amizades. Mas agora? - Kate encolheu os ombros. - Talvez ela volte para Inglaterra. Ela dizia que iria voltar para encontrar um segundo marido concluiu Kate, sorrindo.
- Podia casar-se aqui, ou não? - perguntou Sharpe, lembrando-se da bela mulher a subir para a carruagem junto da House Beautiful.
- Aqui são todos católicos, Mister Sharpe - disse Kate, com jocosa reprovação. - Embora eu tenha a impressão de ela ter encontrado alguém, não há muito tempo. Começou a preocupar-se mais com ela própria. Com a roupa, com o cabelo, mas talvez seja imaginação minha.
Kate ficou silenciosa um longo momento. As agulhas da cozinheira tiniam e um cepo desfez-se com uma chuva de faíscas. Uma saltou por cima do resguardo de arame da lareira e foi queimar um tapete. Sharpe inclinou-se para a frente e deu-lhe um safanão com os dedos, apagando-a, O relógio Tompion do átrio bateu as nove.
- O meu pai - prosseguiu Kate - considerava que as mulheres, na família dele, tinham uma tendência para se afastarem do recto caminho, por isso desejou sempre um filho, para tomar conta da cave. Como isso não aconteceu, atou-nos as mãos no testamento.
- Tinha de casar com um inglês protestante?
- Sim, com um anglicano, pelo menos - disse Kate -, que se dispusesse a mudar o nome para Savage.
- Portanto, o coronel, agora, é o coronel Savage, é isso?
- Vai passar a ser - disse Kate. - Ele disse-me que vai assinar um docu-mento, perante um notário do Porto, e que, depois, vai enviá-lo ao testamenteiro, em Londres. Eu não sei como se enviam agora cartas para Inglaterra, mas James há-de encontrar uma maneira. Ele é um homem cheio de recursos.
- Lá isso é - disse Sharpe friamente. - Mas ele dispõe-se a ficar em Portugal, a fazer vinho do Porto?
- Sim, sim! - disse Kate.
- E a senhora?
- Claro que sim. Eu gosto de Portugal e sei que James deseja cá ficar. Ele próprio o disse, pouco depois de ter chegado a nossa casa, no Porto. - Kate explicou que Christopher tinha estado em casa dela no Ano Novo e que, depois, se alojara lá durante uns tempos, embora passasse a maior parte do tempo a viajar pelo Norte. O que ele andava a fazer, não o sabia ela. - Isso não me dizia respeito - concluiu ela.
- E o que foi ele fazer ao sul, agora, também não lhe diz respeito?
- Não, não me diz respeito, a menos que ele me queira contar - disse ela, na defensiva, franzindo depois a testa. - Você não gosta dele, pois não? Sharpe ficou embaraçado, sem saber o que dizer.
- Ele tem uns belos dentes - disse ele.
A expressão de má vontade magoou Kate.
- O relógio tocou, não foi? - perguntou ela. Sharpe compreendeu.
- São horas de ir ver as sentinelas - disse ele.
Ao encaminhar-se para a porta, relanceou para trás, para Kate, notando, não pela primeira vez, como tinha uma figura delicada e como a pele branca parecia brilhar à luz do lume da lareira. Depois tentou esquecê-la, ao iniciar a ronda às sentinelas.
Sharpe mantinha os fuzileiros arduamente ocupados, a patrulharem os limites da Quinta, a amanharem os caminhos, fazendo-os trabalhar longas horas de tal forma que a pouca energia que lhes restava a gastavam a resmungar. Sharpe, porém, sabia que a situação era muito precária. Christopher dera-lhe aereamente a ordem de permanecer ali, a guardar Kate, mas a Quinta não tinha defesa possível, nem sequer contra uma pequena força francesa. Estava situada na encosta arborizada de uma montanha, mas a montanha erguia-se muito mais alto por trás dela e, no terreno mais elevado, havia matas espessas, as quais podiam esconder um corpo inteiro de infantaria que, com facilidade, atacaria o solar a partir de terreno mais elevado e com a vantagem adicional de dispor da protecção das árvores. Mais para cima, porém, não havia árvores, sendo a montanha encimada por um cume rochoso, onde uma velha torre de vigia se desfazia ao vento e onde Sharpe passava horas a observar os campos em volta.
Via tropas francesas todos os dias. Havia um vale, a norte de Vila Real de Zedes, com uma estrada orientada a leste, na direcção de Amarante, onde a artilharia, a infantaria e os carroções de aprovisionamento do inimigo passavam todo o santo dia e, para maior segurança, com esquadrões de dragões a patrulharem o vale. Por vezes, havia disparos esporádicos, distantes, esvane-cidos, que mal se ouviam e Sharpe, acreditando que eram os camponeses a emboscarem os invasores, perscrutava pelo óculo, tentando descobrir onde as acções se desenrolavam. Porém, nunca vira nenhuma emboscada, nunca lhe apareceram guerrilheiros, como tão-pouco os franceses, embora tivesse a certeza de que eles sabiam que um pelotão de fuzileiros ingleses se encontrava em Vila Real de Zedes. Uma vez, viu mesmo alguns dragões a trotarem a cerca de dois quilómetros da Quinta, com dois oficiais a observarem a elegante casa pelos óculos, sem a atacarem. Teria Christopher tratado disso?
Nove dias após a partida de Christopher, o regedor da aldeia levou a Vicente um jornal do Porto. Era uma folha mal impressa e Vicente ficou surpreendido com ela.
- Eu nunca ouvi falar num Diário do Porto - disse ele a Sharpe. - Isto é um absurdo.
- Um absurdo?
- Diz aqui que Soult se proclamou rei da Lusitânia do Norte! E diz que há muitos portugueses que apoiam a ideia. Quem? E por que razão? Nós temos um rei!
- Os franceses devem estar a subsidiar o jornal - sugeriu Sharpe, embora fosse para ele um mistério o que os franceses andavam a fazer, deixando-o à vontade.
O médico que ia ver Hagman achava que Soult reunia as suas forças para atacar o Sul e não queria dispersar os homens em pequenas escaramuças nas montanhas do Norte do país.
- Quando tiver conquistado Portugal - dizia o médico -, então irá correr convosco.
Torceu o nariz ao retirar a fedorenta compressa do peito de Hagman, abanando depois a cabeça de espanto, pois a ferida estava limpa. A respiração de Hagman era mais regular, ele já se sentava na cama e andava a comer melhor.
Vicente partiu no dia seguinte. O médico trouxera a notícia de que o exército do general Silveira se encontrava em Amarante e se batia valentemente a defender a ponte sobre o Tâmega e Vicente decidiu que era seu dever ir ajudar nessa defesa. Voltou, porém, três dias depois, porque havia demasiados dragões a patrulharem os campos entre Vila Real de Zedes e Amarante. O falhanço desanimou-o.
- Estou a perder o meu tempo - disse ele a Sharpe.
- Os seus homens são bons? - perguntou Sharpe. A pergunta surpreendeu Vicente.
- Se são bons? São tão bons como outros quaisquer, acho eu.
- Serão mesmo?
Nessa mesma tarde, Sharpe reuniu os homens todos, ingleses e portu-gueses, e fê-los disparar cada um três vezes num minuto, com os mosquetes portugueses. Fez isso em frente da casa e mediu os tempos pelo relógio grande,
Sharpe não teve dificuldade nenhuma em disparar os três tiros num minuto. Era o que tinha feito em metade da sua vida e o mosquete era de origem britânica e era-lhe familiar. Mordeu o cartucho para provar o salitre, empurrou com a vareta a bucha e a bala, comprimiu a cápsula, armou o cão, puxou o gatilho, sentiu o coice da arma no ombro e, depois, baixou a coronha e introduziu novo cartucho, recomeçando o processo. Os seus atiradores sorriam, pois sabiam que ele era bom naquilo.
O sargento Macedo foi o único homem, para além de Sharpe, que disparou os três tiros em quarenta e cinco segundos. Quinze dos fuzileiros e doze dos portugueses conseguiram disparar um tiro a cada vinte segundos, mas os restantes foram muito lentos e, por isso, Sharpe e Vicente ficaram a treiná-los. Williamson, um dos fuzileiros mais lentos, pôs-se a resmungar que era uma estupidez pô-lo a aprender a disparar um mosquete, quando a arma dele era um rifle. Queixou-se suficientemente alto para Sharpe ouvir e na convicção de que ele o ia ignorar, ficando aflito quando Sharpe o puxou da formatura.
- Tens alguma queixa a apresentar? - desafiou-o, Sharpe.
- Não, meu Tenente - respondeu Williamson, o olhar carrancudo a olhar para além de Sharpe,
- Olha para mim - disse Sharpe, e Williamson obedeceu com ar sombrio. - A razão por que estás a aprender a disparar um mosquete como um bom soldado é que eu não quero que os portugueses pensem que estamos a gozar com eles. - Williamson continuava com o seu ar sombrio. - E, além disso - continuou Sharpe -, nós estamos bloqueados quilómetros atrás das linhas inimigas, portanto, o que é que fazias se o teu rifle rebentasse? E há ainda outra razão para além destas.
- Qual é, meu Tenente? - perguntou Williamson.
- É que, se o não fazes - disse Sharpe -, eu arranjo-te outro trabalho, e mais outro, e depois mais outro, até estares tão farto das tarefas de castigo que terás de me dar um tiro para te veres livre delas.
Williamson olhou para Sharpe com uma expressão que dava a entender que era bem o que lhe apetecia fazer, mas Sharpe manteve o olhar fixo no dele e Williamson afastou o olhar.
- Vamos ficar sem munições - disse ele rudemente.
Quanto a isso tinha alguma razão. Kate Savage, porém, abriu a sala de armas do pai, onde se encontrava um barril de pólvora e um molde de balas, de modo que Sharpe pôs os homens a fazerem cartuchos, utilizando as páginas dos livros de sermões da biblioteca para embrulhar a pólvora. As balas eram pequenas, mas eram boas para praticar e, durante três dias, os homens dispararam à vontade os mosquetes e os rifles no meio da Quinta. Os franceses deviam ouvir a fuzilaria a ecoar surdamente nas montanhas e deviam enxergar o fumo da pólvora por cima de Vila Real de Zedes, mas não apareceram. Nem o coronel Christopher apareceu.
- Mas os franceses vão acabar por aparecer - disse Sharpe a Harper, uma tarde em que subiam juntos ao alto da montanha por detrás da Quinta.
- Ou talvez não - disse o irlandês. - Quer dizer, eles sabem decerto que nós nos encontramos aqui.
- E vão desfazer-nos, quando vierem - disse Sharpe.
Harper encolheu os ombros, perante a frase pessimista, depois franziu o sobrolho.
- Até onde é que vamos?
- Até ao cume - disse Sharpe.
Guiara Harper por entre as árvores e, agora, encontravam-se na encosta rochosa que conduzia à torre de vigia no cimo da montanha.
- Nunca esteve aqui? - perguntou Sharpe.
- Eu nasci em Donegal - disse Harper - e há uma coisa que se aprende em Donegal, é nunca ir ao cume das montanhas.
- E porquê?
- Porque tudo o que tinha algum valor há muito tempo que se despenhou de lá, meu Tenente, e tudo o que um homem faz é perder o fôlego a subir até lá acima para ver que não há lá nada. Meu Deus! Mas daqui de cima vê-se meio mundo!
A vereda seguia por uma lomba rochosa que levava ao cume, mas de ambos os lados o declive era tão pronunciado que só uma cabra conseguiria abrir caminho pelo entulho traiçoeiro. A passagem, contudo, era bastante segura, torcendo em direcção ao coto da antiga torre.
- Nós vamos fazer um forte aqui em cima - disse Sharpe, em tom entusiástico.
- Deus nos salve - disse Harper.
- Estamos a ficar preguiçosos, Pat. Moles. Ociosos. E isso não é nada bom.
- Mas para quê fazer um forte? - perguntou Harper. - Isto é já uma forta-leza! Nem o próprio diabo conseguia tomar este cume, se ele fosse defendido.
- Há duas maneiras de chegar cá acima - disse Sharpe, ignorando a pergunta. - Esta passagem e uma outra do lado sul. Eu quero muros em cada uma das passagens. Muros de pedra, Pat, suficientemente altos para um homem ficar de pé atrás deles e poder disparar por cima deles. E há bastante pedra aqui em cima.
Sharpe guiou Harper, pelo meio das arcadas derribadas da torre, e mostrou-lhe como a velha construção tinha sido erguida junto de um poço natural, no cume da montanha, e como a derribada torre enchera o poço de pedras. Harper espreitou para o poço.
- Quer que retiremos todos aqueles pedregulhos e que construamos muros com eles?
Harper parecia chocado.
- Eu falei a Kate Savage neste sítio - disse Sharpe. - Esta velha torre foi construída há centenas de anos, Pat, quando os mouros andavam por aqui. Eles andavam a matar cristãos e, então, o rei mandou construir esta torre para poder ver ao longe quando uma sortida mourisca se aproximava.
- Era uma coisa inteligente a fazer - disse Harper.
- E Kate disse-me que o povo dos vales enviava para aqui os seus valores. Moedas, jóias, ouro. Tudo aqui para cima, Pat, para que os sacanas dos gentios não os roubassem, E, depois, houve um terramoto, a torre caiu e os habitantes locais acham que há um tesouro debaixo dessas pedras. Harper parecia céptico.
- E porque é que eles não o escavam, meu Tenente? O pessoal da aldeia não me pareceu ser gente estúpida. Quer dizer, se eu soubesse que havia um raio de um poço com ouro aqui em cima, eu não perdia o meu tempo com uma charrua ou com uma enxada.
- Pois, mas há uma razão para isso - disse Sharpe. Ele estava a inventar a história enquanto caminhava e procurou desesperadamente uma resposta à objecção inteiramente justa de Harper. - É que houve uma criança, compreende, que ficou enterrada com o ouro e a lenda diz que a criança irá assombrar a casa de quem lhe desenterrar os ossos. Mas só as casas dos habitantes locais - apressou-se a acrescentar.
Harper torceu o nariz ao adorno da história e olhou pela passagem abaixo.
- Portanto, quer aqui um forte?
- E temos de trazer barris de água para aqui - disse Sharpe.
Era o ponto fraco do cume, não havia lá água. Se os franceses aparecessem e tivessem de se retirar para o cimo da montanha, Sharpe não queria ver-se obrigado a render-se por causa da sede.
- Miss Savage - ainda não pensava nela como Mrs. Christopher - arranja-nos os barris.
- Aqui em cima? Com este sol? A água vai ficar choca - avisou Harper.
- Bastam umas gotas de aguardente em cada um - disse Sharpe, lembrando-se das viagens da índia e de como a água tinha sempre um ligeiro saber a rum, tanto à ida, como à volta. - Eu arranjo a aguardente.
- E o meu Tenente espera realmente que eu acredite que há ouro debaixo daquelas pedras?
- Não - admitiu Sharpe -, mas quero que os homens fiquem na dúvida. Vai ser um trabalho duro erguer muros aqui em cima, Pat, e sonhar com tesouros não faz mal a ninguém.
Construíram, pois, o forte e não encontraram ouro nenhum, mas, sob o sol primaveril, transformaram o cume da montanha num reduto onde uma pequena força de infantaria podia aguentar um cerco prolongado. Os primi-tivos construtores tinham escolhido bem, pois não só tinham escolhido o pico mais alto em muitos quilómetros em redor para erguerem a torre de vigia, como haviam escolhido um local de fácil defesa.
Os atacantes só podiam surgir pelo lado norte ou pelo lado sul e, em ambos os casos, tinham de abrir caminho por passagens estreitas.
Um dia, Sharpe, ao explorar a passagem do lado sul, encontrou a ponta de uma seta debaixo de um pedregulho e, pegando nela, levou-a para o cume, mostrando-a a Kate. Kate ergueu-a aos olhos, por baixo do enorme chapéu de palha, virando-a de um lado e do outro.
- Acho que não deve ser muito antiga - disse ela.
- Eu pensei que talvez tivesse ferido um mouro.
- As pessoas, aqui, ainda caçavam com arco e flecha no tempo do meu avô - disse ela.
- A sua família já então aqui estava?
- Os Savages vieram para Portugal em 1711 - disse ela, toda ufana. Kate estivera a olhar para sudoeste, na direcção do Porto, e Sharpe sabia que ela observava a estrada na esperança de ver surgir um cavaleiro, mas os dias iam passando sem sinais do marido, nem sequer uma carta.
Os franceses também não apareciam, embora Sharpe tivesse a certeza de que eles viam os homens a atarefarem-se no cimo da montanha, a empilharem a pedra para fecharem as duas passagens e a escalarem a encosta com barris de água que eram colocados no poço desobstruído do cume. Os homens resmungavam por os porem a trabalhar como animais de carga, mas Sharpe sabia que eles se sentiam melhor cansados do que ociosos. Alguns, encorajados por Williamson, queixavam-se de que estavam a perder tempo, que deviam abandonar aquela maldita montanha mais a sua torre derrocada e arranjar maneira de seguirem para sul, para se juntarem ao exército. Sharpe reconhecia que tinham alguma razão, mal ele recebera ordens e, por isso, tinha de permanecer ali.
- Sabem uma coisa? - dizia Williamson aos apaniguados. - Isto é tudo por causa da madama. Nós a carregar pedra e ele a apalpar a mulher do coronel.
E, se Sharpe o ouvisse, talvez concordasse, pois, embora não andasse a apalpar Kate, gostava muito de estar junto dela e persuadira-se de que, com ordens ou sem elas, tinha de a proteger dos franceses.
Os franceses, porém, não apareciam, como tão-pouco aparecia o coronel Christopher. Quem apareceu foi Manuel Lopes.
Apareceu num cavalo preto, a galopar pelo caminho acima, travando depois tão bruscamente o garanhão que este se empinou e abanou. Lopes, em vez de ser cuspido como noventa e nove em cem outros cavaleiros teriam sido, manteve-se sereno, dominando o cavalo. Acalmou o animal e sorriu para Sharpe.
- Você é o inglês - disse ele em inglês - e eu odeio os ingleses, mas não tanto como odeio os espanhóis. E odeio os espanhóis menos do que odeio os franceses. - Desmontou e estendeu a mão a Sharpe. - Eu chamo-me Manuel Lopes.
- Sharpe - disse Sharpe.
Lopes olhou para o solar com o ar de quem avalia o valor de uma pilhagem. Era ligeiramente mais baixo do que o metro e oitenta de Sharpe, mas parecia mais alto. Era um homem grande, não propriamente gordo, apenas grande, com um rosto firme, olhos vivos e sorriso pronto.
- Se eu fosse espanhol, o que todas as noites agradeço ao Senhor não ser, mas se fosse espanhol, aplicaria a mim próprio um cognome dramático, como o Sanguinário, ou o Carniceiro, ou o Príncipe da Morte - ele referia-se aos chefes guerrilheiros que massacravam os franceses -, mas eu sou um simples cidadão de Portugal, de forma que a minha alcunha é o Professor
- O Professor? - repetiu Sharpe.
- Porque era isso que eu era - retorquiu Lopes vivamente. - Tinha uma escola em Bragança, onde ensinava, a sacaninhas ingratos, Inglês, Latim, Grego, Álgebra, Retórica e a montarem a cavalo. Também os ensinava a amarem Deus, a respeitarem o rei e a cagarem nos espanhóis. Agora, em vez de perder o fôlego com tontos, mato franceses. - Fez a Sharpe uma vénia pronunciada. E sou famoso por isso.
- Nunca ouvi falar de si - disse Sharpe.
Lopes limitou-se a sorrir perante a provocação.
- Mas os franceses já ouviram falar muito de mim - disse ele - e eu ouvi falar de si. Quem é esse inglês que anda a norte do Douro? Porque é que os franceses o deixam em paz? Quem é o oficial português que anda com ele? Porque estão eles ali? Porque estão eles a fazer um forte a brincar, no cume da torre de vigia? Porque razão não estão eles a combater? - Boas perguntas - disse Sharpe friamente -, todas elas.
Lopes tornou a olhar para o solar.
- Em toda a parte em Portugal, por onde os franceses têm deixado o seu esterco, eles destroem sítios como este. Roubam os quadros, partem a mobília, deixam as adegas secas. Sem embargo, a guerra não chegou a esta casa. - Voltou-se, olhando para o caminho, onde apareciam uns vinte a trinta homens. - Os meus alunos - explicou. - Eles precisam de descansar.
Os ”alunos” eram os seus homens, um bando de esfarrapados, com os quais Lopes emboscava as colunas francesas de transporte de munições para a artilharia que fustigava as tropas portuguesas que defendiam a ponte de Amarante.
O Professor perdera bastantes homens e reconhecia que os êxitos iniciais o haviam tornado demasiado confiante, até que, dois dias antes, dragões franceses o haviam apanhado em terreno aberto.
- Eu detesto aqueles sacanas verdes - rosnou Lopes. - Detesto-os, mais as suas espadas compridas. - Perdera cerca de metade dos homens e o resto tivera sorte em escapar. - Por isso trouxe-os para aqui - disse Lopes - para recupe-rarem, pois a Quinta de Zedes parece ser um santuário.
Kate empertigou-se, quando ouviu Lopes dizer que desejava que os homens descansassem no solar.
- Diga-lhe para levar os homens para a aldeia - disse ela a Sharpe e este transmitiu a sugestão ao Professor.
Lopes riu-se quando ouviu a mensagem.
- O pai dela também era um bom filho da mãe. E todo pomposo disse ele.
- Conhecia-o?
- Ouvi falar dele. Fazia vinho do Porto mas não o bebia, por causa de crenças estúpidas, e não tirava o chapéu quando passava o Santo Sacramento. Que raio de homem era ele? Até um espanhol tira o chapéu aos Santos Sacramentos. - Lopes encolheu os ombros. - Os meus homens ficarão bem na aldeia - disse ele, puxando de um charuto mal-cheiroso. - Nós vamos ficar só o tempo necessário para curar as feridas piores. Depois, voltamos à luta.
- Nós também - disse Sharpe.
- Vocês? - disse o Professor com ar jocoso. - Mas porque é que, agora, não se batem?
- O coronel Christopher ordenou-nos que ficássemos aqui.
- O coronel Christopher?
- Sim, esta casa pertence à mulher dele - disse Sharpe.
- Não sabia que ele era casado - retorquiu Lopes.
- Conhece-o?
- Ele falou comigo em Bragança. Eu ainda possuía a escola e tinha a reputação de ser um homem de influência. Por isso, o coronel foi lá ter comigo. Ele queria saber se a opinião em Bragança era lutar contra os franceses e eu disse-lhe que a opinião em Bragança era a de afogar os franceses na sua própria merda, mas que, se isso não fosse possível, então, havia que lutar contra eles, E é o que fazemos. - Lopes fez uma pausa. - Também ouvi dizer que o coronel tinha dinheiro para distribuir por quem quisesse lutar contra os franceses, mas nós nunca lhe vimos a cor. - Depois voltou-se e olhou para a casa. - E a mulher dele é a dona da Quinta? E os franceses não tocam nisto?
- O coronel Christopher - disse Sharpe - fala com os franceses e, precisa-mente agora, encontra-se a sul do Douro, para onde se dirigiu com um oficial francês, para falar com o nosso general.
Lopes ficou, por momentos, a olhar boquiaberto para Sharpe.
- Para que iria um oficial francês falar com os ingleses? - perguntou, esperando pela resposta de Sharpe, mas logo depois respondeu ele próprio, ao ver que Sharpe se calava. - Apenas por uma razão - sugeriu Lopes -, para fazer a paz. A Inglaterra vai retirar-se, vai deixar-nos a sofrer sozinhos.
- Não sei de nada - disse Sharpe.
- Nós vamos correr com eles, convosco ou sozinhos - disse Lopes, irritado, dirigindo-se para o caminho, gritando para os homens lhe trazerem o cavalo, agarrarem nas trouxas e seguirem-no para a aldeia.
O encontro com Lopes exacerbou o sentimento de culpa de Sharpe. Toda a gente se batia e ele estava ali sem fazer nada. Nessa noite, depois do jantar, pediu para falar com Kate. Era já tarde e Kate já mandara as criadas para os alojamentos da cozinha, por isso Sharpe pensava que ela ia chamar uma de volta, para a acompanhar, mas foi ela própria que o conduziu à sala. A sala estava às escuras, pois não havia nenhuma vela acesa. Kate foi a uma das janelas e abriu as cortinas, revelando uma noite palidamente iluminada pelo luar. A glicínia parecia brilhar sob a luz de prata. As botas de uma sentinela rangiam no caminho.
- Eu sei o que me vai dizer - disse Kate. - Vai dizer-me que está na altura de partir.
- Sim - disse Sharpe -, e acho que deve vir connosco.
- Eu tenho de esperar por James - disse Kate, dirigindo-se a um aparador e, ao luar, enchendo um cálice de vinho do Porto. - Para si - disse ela.
- Quanto tempo disse o coronel que se ia demorar? - perguntou Sharpe.
- Uma semana, ou talvez dez dias.
- Já passaram mais de duas semanas - disse Sharpe -, faz quase três.
- Ele ordenou-lhe que o esperasse aqui - disse Kate.
- Mas não para sempre - retorquiu Sharpe, dirigindo-se ao aparador e pegando no cálice de Porto, que era um dos melhores Savages.
- Não me pode deixar aqui sozinha - disse Kate.
- Nem tenciono fazê-lo - disse Sharpe. A lua sombreava uma das faces de Kate, brilhando-lhe nos olhos, e ele sentiu uma pontada de ciúme do coronel Christopher. - Acho que devia vir connosco.
- Não - disse Kate com uma certa petulância, para logo encarar Sharpe com ar suplicante. - Não me pode deixar aqui sozinha!
- Eu sou um soldado - disse Sharpe - e já esperei bastante tempo. Há uma guerra à nossa volta e eu estou para aqui sentado como um indolente. Kate tinha lágrimas nos olhos.
- O que é que lhe terá acontecido?
- Pode ter recebido novas ordens em Lisboa - sugeriu Sharpe.
- Então, porque é que não me escreve?
- Porque nós estamos em território do inimigo, minha senhora - disse Sharpe abruptamente -, e ele não consegue enviar-nos nenhuma mensagem. O que era pouco provável, pensou Sharpe, já que Christopher parecia dispor de bastantes amigos entre os franceses. Talvez o coronel tivesse sido preso em Lisboa. Ou morto pelos guerrilheiros.
- Possivelmente está à sua espera no Sul - disse ele, ocultando os pensa-mentos pessimistas.
- Ele teria, então, enviado uma mensagem - protestou Kate. - Tenho a certeza que ele está de volta.
- Acha que sim? - perguntou Sharpe.
Kate sentou-se numa cadeira dourada, pondo-se a olhar pela janela.
- Ele tem de voltar - disse ela mansamente e Sharpe apercebeu-se, pelo tom de voz que ela tinha, virtualmente, perdido a esperança.
- Se acha que ele está de volta - disse ele -, então deve ficar e esperar por ele. Eu, porém, vou levar os meus homens para sul.
Partiria na noite seguinte, decidiu. Marcharia de noite, para sul, encontraria o rio e procuraria um barco na margem do rio, um barco qualquer. Até um tronco de árvore serviria, qualquer coisa que lhes permitisse atravessar o rio.
- Sabe porque é que casei com ele? - Perguntou ela de repente. Sharpe ficou tão surpreendido com a pergunta que não disse nada. Limitou-se a olhar para ela.
- Eu casei com ele - disse Kate - porque a vida no Porto é muito enfadonha. Eu e a minha mãe vivemos na enorme casa na colina, os procuradores dizem-nos o que acontece nas vinhas e na cave, as senhoras amigas vêm tomar chá connosco, nós vamos à igreja inglesa aos domingos e isto é tudo o que acontece.
Sharpe continuou calado. Estava mesmo embaraçado.
- Você acha que ele casou comigo pelo dinheiro, não é? - perguntou Kate.
- E você não acha? - retorquiu Sharpe.
Kate olhou para Sharpe em silêncio e este esperou que Kate se irritasse, mas ela limitou-se a abanar a cabeça e a suspirar.
- Eu não quero acreditar nisso - disse ela -, embora ache que o casamento é uma aposta, nós nunca sabemos o que vai sair, podemos apenas ter uma esperança. Não é isto verdade?
- Eu nunca fui casado - disse Sharpe, fugindo à pergunta.
- E alguma vez desejou casar-se? - perguntou Kate.
- Sim - disse Sharpe, pensando em Grace.
- O que é que aconteceu?
- Ela era viúva - disse Sharpe - e os advogados estavam a complicar tudo com o testamento do marido e nós pensámos que, se nos casássemos, ficaria tudo ainda mais complicado. Era o que os advogados diziam. Eu detesto advogados.
Sharpe calou-se, como sempre ferido pela recordação. Bebeu um gole de Porto, para esconder o que sentia, caminhando depois para a janela e olhando para o caminho iluminado Pelo luar, onde o fumo das casas da aldeia manchava as estrelas por sobre as montanhas.
- Por fim, ela morreu - concluiu ele abruptamente.
- Lamento muito - disse Kate num fio de voz.
- E eu desejo que tudo corra bem consigo - disse Sharpe.
- Ah, sim?
- Claro - disse ele, voltando-se depois para ela e ficando tão perto dela que Kate teve de inclinar a cabeça para trás para o ver. - O que eu realmente desejo - disse Sharpe - é isto.
Sharpe inclinou-se e beijou-a ternamente nos lábios. No primeiro momento, ela retesou-se, para depois o deixar beijá-la e, quando ele se endireitou, baixou a cabeça e ele sabia que ela estava a chorar.
- Espero que tenha sorte - disse-lhe ele. Kate não ergueu a cabeça.
- Eu tenho de trancar a casa - disse ela e Sharpe soube que estava a ser dispensado.
Concedeu o dia seguinte aos homens para se prepararem para a partida. Havia que consertar botas, bolsas e mochilas para encher de mantimentos, cantis para encher de água. Sharpe certificou-se de que as armas estavam limpas, que as pederneiras eram novas e que as cartucheiras estavam cheias. Harper abateu a tiro dois dos cavalos dos dragões e esquartejou-os em pedaços que podiam ser transportados, depois colocou Hagman num dos outros cavalos, para se certificar de que ele conseguia montar sem muitas dores. Sharpe disse a Kate que ela devia seguir num outro cavalo, mas ela protestou, dizendo que não podia viajar sem uma dama de companhia e ele disse-lhe que fizesse o que quisesse.
- Fique, ou venha connosco, mas nós partimos esta noite.
- Você não me pode deixar aqui! - disse Kate, zangada, como se Sharpe não a tivesse beijado e ela não lhe tivesse permitido o beijo.
- Eu sou um soldado, minha senhora - disse Sharpe -, e vou-me embora. E afinal não foi, porque nesse fim de tarde, ao crepúsculo, o coronel Christopher voltou.
O coronel vinha montado no seu cavalo preto e todo vestido de preto. Estavam, então, de piquete à entrada da Quinta, Dodd e Pendleton e, quando eles lhe fizeram a continência, Christopher limitou-se a levar o cabo de marfim do pingalin a um dos bicos com borlas do chapéu. Luís, o criado, seguia-o e o pó levantado pelos cascos dos cavalos espalhava-se pelos montes de pétalas de glicínia que ladeavam o caminho.
- Parece lavanda, não parece? - comentou Christopher para Sharpe. Eles deviam plantar lavanda aqui - prosseguiu ele ao desmontar. - Ficava aqui bem, não acha? - Não esperou pela resposta, antes subindo a correr os degraus de entrada da casa, as mãos estendidas para Kate. - Minha muito querida!
Sharpe viu-se a olhar para Luís. O criado ergueu um sobrolho, como que exasperado, e depois conduziu os cavalos para as traseiras da casa. Sharpe lançou o olhar através dos campos obscurecidos. Agora que o Sol desaparecera, levantava-se uma brisa que mordia, um resto de Inverno a atardar-se na Primavera.
- Sharpe! - chamou a voz do coronel de dentro da casa. - Sharpe!
- Meu Coronel! - disse Sharpe, empurrando a porta entreaberta. Christopher estava de pé, em frente da lareira do átrio, as abas do casaco erguidas para o lume.
- Kate diz-me que se portou bem. Obrigado por isso. - Ele viu o trovão na cara de Sharpe. - É uma brincadeira, homem, apenas uma brincadeira. já não tem sentido de humor? Kate, minha querida, um cálice de um bom Porto era mais do que bem-vindo. Estou ressequido, perfeitamente ressequido. Portanto, Sharpe, nenhuma actividade francesa?
- Eles aproximaram-se - disse Sharpe, conciso -, mas não demasiado.
- Não demasiado? Tiveram sorte, então. Kate diz-me que você tencionava partir.
- Esta noite, meu Coronel.
- Não vai partir, não. - Christopher pegou no cálice de Porto que Kate lhe estendia e bebeu-o de um trago. - Delicioso - disse ele, olhando para o copo vazio. - É um dos nossos?
- O nosso melhor - disse Kate.
- Não demasiado doce. É o sinal de um bom Porto, não concorda, Sharpe? E devo dizer que fiquei espantado com o Porto branco. Mais do que bebível! Pensei sempre que fosse uma coisa execrável, uma bebida de senhoras, quando muito, mas o Savage branco é muito bom. Temos de fazer mais Porto branco, nos dias pimpões de paz, não achas, minha querida?
- Se tu o dizes - disse Kate, sorrindo para o marido.
- Esta foi mesmo boa, Sharpe, não achou? Pipas de Porto. Dias pimpões de paz. Um trocadilho pimpão, diria eu. - Christopher aguardou pelo comentário de Sharpe e, como ele não surgiu, franziu o cenho. - Você vai ficar aqui, nosso Tenente.
- Porquê, meu Coronel? - perguntou Sharpe.
A pergunta surpreendeu Christopher. Esperava uma réplica mais rude e não uma pergunta colocada mansamente. Franziu a testa, pensando em como compor a resposta.
- Estou a aguardar desenvolvimentos, Sharpe - disse ele, passados uns momentos.
- Desenvolvimentos, meu Coronel?
- Nada garante - continuou Christopher - que a guerra se prolongue. Podemos estar, na verdade, à beira da paz.
- Isso é bom, meu Coronel - disse Sharpe em tom neutro. - E é por isso que temos de ficar aqui?
- Que vocês têm de ficar aqui. - Havia, agora, uma certa aspereza na voz de Christopher, ao aperceber-se de que o tom neutro de Sharpe não passava de impudência. - E isso aplica-se também a si, nosso Tenente. - Dirigia-se a Vicente, que acabava de entrar, com uma pequena vénia para Kate.
- A situação é ainda precária - prosseguiu o coronel. - Se os franceses descobrem tropas inglesas a vaguearem a norte do Douro, vão pensar que estamos a faltar à nossa palavra.
- As minhas tropas não são inglesas - observou Vicente mansamente.
- O princípio é o mesmo! - lançou Christopher. - Não podemos fazer adornar o barco. Não se devem sabotar semanas de negociações. Se a situação se pode resolver sem mais derramamento de sangue, então, devemos fazer tudo o que pudermos para assegurar que ela se resolve, e a vossa contribuição para o processo é ficarem aqui quietos. E quem raio são aqueles vagabundos que estão na aldeia?
- Vagabundos? - perguntou Sharpe.
- Uma quantidade de homens, armados até aos dentes, a olharem para mim quando por lá passei. Quem raio são eles?
- São guerrilheiros - disse Sharpe - e costumamos chamar nossos aliados. Christopher não gostou da graça.
- São mas é uma cambada de idiotas - rosnou ele - capazes de deitar tudo a perder.
- E são chefiados por um homem que o conhece - acrescentou Sharpe um tal Manuel Lopes.
- Lopes? Lopes? - Christopher franzia a testa, tentando recordar-se. Ah, sim! Um tipo que tinha uma escola para os filhos da escassa fidalguia de Bragança. Um tipo do gênero fanfarrão. Pois bem, vou ter uma conversa com ele amanhã de manhã. Vou dizer-lhe para não complicar as coisas, e o mesmo se aplica a vocês os dois. E isto - disse ele olhando de Sharpe para Vicente - é uma ordem.
Sharpe não redarguiu, antes inquirindo:
- Trouxe-me alguma resposta do capitão Hogan?
- Eu não vi Hogan. Deixei a carta no quartel-general de Cradock.
- E o general Wellesley não está cá? - perguntou Sharpe.
- Não, não está - disse Christopher -, mas o general Cradock está, é ele quem comanda e concorda com a minha decisão de permanecerem aqui. O coronel viu o cenho franzido de Sharpe e abriu uma bolsa que tinha ao cinto, dela retirando um pedaço de papel que estendeu a Sharpe. - Aí tem, nosso Tenente - disse ele suavemente -, se acaso está preocupado.
Sharpe desdobrou o papel, o qual se revelou ser uma ordem assinada pelo general Cradock e dirigida ao tenente Sharpe, colocando-o sob o comando do coronel Christopher. Christopher obtivera a ordem de Cradock convencendo-o de que precisava de protecção, embora, na verdade, simplesmente o divertisse ver Sharpe colocado sob as suas ordens. A ordem terminava com as palavras ”pro tempore”, que Sharpe não compreendeu.
- Pro tempore, meu Coronel? - perguntou ele.
- Não estudou Latim, Sharpe?
- Não, meu Coronel.
- Santo Deus, em que escola é que andou? Isso significa ”por ora”. Na realidade, até eu me fartar de si, mas concorda que, por ora, está sob as minhas ordens?
- Claro, meu Coronel.
- Fique com esse documento - disse Christopher irritadamente, quando Sharpe lhe quis devolver a ordem do general Cradock -, está dirigido a si, no fim de contas, e se olhar para ele de vez em quando vai lembrar-se do seu dever. O qual é obedecer às minhas ordens e ficar aqui. Se houver uma possibilidade de tréguas, a nossa posição sai reforçada se pudermos afirmar que temos tropas a norte do Douro, por isso, vai fincar aqui os pés e deixar-se ficar muito quieto. Agora, meus senhores, vão-me desculpar, mas gostava de ter algum tempo para a minha mulher.
Vicente fez de novo uma vénia e saiu, mas Sharpe não se mexeu.
- O meu Coronel vai ficar aqui connosco?
- Não. - Christopher pareceu incomodado com a pergunta, mas forçou um sorriso. - Tu e eu, minha querida - disse ele virando-se para Kate -, vamos voltar A House Beautiful.
- Vão para o Porto! - exclamou Sharpe, espantado.
- Já lhe disse, Sharpe, que as coisas estão a mudar. ”Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que as que a tua filosofia sonha”. Portanto, boa noite, nosso Tenente.
Sharpe saiu para o terreiro em frente da casa, onde Vicente se encontrava, junto do murete sobranceiro ao vale. O tenente português estava a olhar para o céu meio escurecido, ponteado pelas primeiras estrelas. Ofereceu a Sharpe um charuto grosseiro e estendeu o dele para ele o acender.
- Estive a falar com o Luís - disse Vicente,
- E então? - Sharpe raramente fumava e quase sufocou com o fumo áspero.
- Há cinco dias que Christopher se encontra a norte do Douro. Tem estado no Porto, a falar com os franceses.
- Mas esteve no Sul?
Vicente fez que sim, inclinando a cabeça.
- Eles foram a Coimbra, encontraram-se com Cradock e depois regres-saram. O capitão Argenton regressou com ele ao Porto.
- Então, que raio é que se passa? Vicente soprou fumo para a Lua.
- Talvez estejam a negociar a paz. Luís, porém, não sabe do que é que eles falaram.
Portanto talvez a paz estivesse próxima. Tinha havido um acordo depois das batalhas da Roliça e do Vimeiro e os franceses, derrotados, haviam regressado a França transportados por navios ingleses. Estaria um novo acordo a ser negociado? Sharpe sabia, pelo menos, que Christopher tinha falado com Cradock e, agora, tinha ordens definitivas que afastavam muitas das suas dúvidas.
O coronel partiu pouco depois da alvorada. Ao nascer do Sol, tinha havido um estalejar de mosquetes, algures para norte e Christopher juntara-se a Sharpe no caminho, a olhar para o nevoeiro no vale. Sharpe não conseguia ver nada com o óculo, mas Christopher ficou impressionado com o objecto.
- Quem é AW? - perguntou ele, ao ler a inscrição.
- É um amigo meu, meu Coronel.
- Não será Arthur Wellesley? - insistiu Christopher, em tom jocoso. É apenas um amigo meu - repetiu Sharpe, obstinado.
O tipo deve gostar muito de si - disse Christopher -, pois isto é um presente muito generoso. Importa-se que eu o leve até ao telhado? De lá vê-se melhor, mas o meu óculo é uma lástima.
Sharpe não gostava de ceder o óculo, mas Christopher nem lhe deu a possibilidade de recusar, logo se afastando. Obviamente, nada viu que o preocupasse, pois mandou engatar a charrete e disse a Luís para reunir os restantes cavalos que Sharpe havia capturado em Barca de Avintes.
- Você não pode estar a preocupar-se com cavalos, Sharpe - disse ele por isso vou levar-lhos. Diga-me cá, o que é que os homens fazem durante o dia?
- Não há muita coisa para fazer - disse Sharpe. - Temos estado a treinar os homens do tenente Vicente.
- Que bem precisam, não é?
- Podiam ser mais rápidos com os mosquetes, meu Coronel. Christopher trouxera uma chávena de café nas mãos e soprava-lhe agora, para arrefecer o líquido.
- Se houver paz - disse ele -, eles podem voltar a ser calceteiros, ou a fazer o que faziam antes de se, porem-se a bambolear naqueles uniformes mal amanhados. E já que falamos nisso, Sharpe, acho que é tempo de você arranjar um novo.
- Vou falar nisso ao meu alfaiate - disse Sharpe e logo, antes que Christopher reagisse à insolência, pôs-lhe uma questão séria. - Acha que vai haver paz, meu Coronel?
- Há muitos sapos que acham que Bonaparte quer abocanhar mais do que pode engolir - disse Christopher, em tom displicente - e a Espanha é, provavel-mente, indigerível.
- E Portugal não é?
- Portugal é uma confusão - disse Christopher, depreciativo -, mas a França não pode conquistar Portugal, se não conquistar a Espanha. - Voltou-se para observar Luís a trazer a charrete da cocheira. - Acho que existe uma real possibilidade de uma mudança radical - disse ele. - E você, Sharpe, não a pode sabotar. Fique aqui quieto uma semana ou um pouco mais e eu mando-lhe dizer quando poderá levar os seus homens para sul. Com um pouco de sorte, estará em casa em junho.
- Quer dizer, com o exército?
- Eu quero dizer em casa, em Inglaterra, é óbvio - disse Christopher. Boa cerveja, Sharpe, telhados de colmo, críquete na Parada da Artilharia, sinos de igrejas, ovelhas gordas, párocos rotundos, mulheres predispostas, boa carne, Inglaterra, enfim. Algo de que tem saudades, não é, Sharpe?
- Sem dúvida, meu Coronel - respondeu Sharpe, perguntando-se porque seria que desconfiava tanto mais de Christopher, quanto mais ele tentava ter graça.
- Aliás, não ganharia nada se tentasse sair daqui - disse Christopher pois os franceses queimaram todos os barcos que havia na margem direita do Douro. Portanto, mantenha os seus homens sossegados e, dentro de uma semana ou duas, eu estarei de volta - Christopher deitou fora o resto do café e estendeu a mão para Sharpe - e, se eu não voltar, envio-lhe uma mensagem. A propósito, deixei o seu óculo na mesa do átrio. Você tem uma chave da casa, não é verdade? Não deixe os homens lá entrar. Um bom dia para si, Sharpe.
- E para si também, meu Coronel - disse Sharpe que, depois de apertar a mão ao coronel, limpou a sua às calças.
Luís fechou a casa, Kate sorriu timidamente a Sharpe e o coronel agarrou nas rédeas da charrete. Luís reuniu os cavalos dos dragões e seguiu atrás da charrete, caminho abaixo, para Vila Real de Zedes.
Harper aproximou-se de Sharpe.
- Vamos ficar aqui até eles fazerem a paz?
O irlandês tinha, era evidente, estado à escuta.
- Foi o que o homem disse.
- E é o que o meu Tenente pensa?
Sharpe olhou para leste, para o lado de Espanha. O céu ali estava branco,, não de nuvens, mas de calor, e havia um ribombar à distância, umas batidas irregulares, tão longínquas que mal se ouviam. Era fogo de canhão, prova de que portugueses e franceses ainda se batiam pela ponte de Amarante.
- A mim não me cheira a paz, Pat.
- O povo, aqui, odeia os franceses. E os senhores também.
- O que não quer dizer que os políticos não estabeleçam a paz - disse Sharpe.
- Esses gajos asquerosos fazem tudo o que lhes renda dinheiro - concordou Harper.
- O capitão Hogan nunca acreditou na paz...
- E não há muitos como ele, meu Tenente.
- Mas nós recebemos ordens directamente do general Cradock - disse Sharpe.
Harper fez uma careta.
- E o meu Tenente gosta de obedecer às ordens, lá isso é verdade.
- E o general quer que fiquemos aqui. Vá-se lá saber porquê. Anda algo de estranho no ar, Pat. Talvez seja a paz. Só Deus sabe o que iremos fazer então, você e eu.
Encolheu os ombros e dirigiu-se à casa, para ir buscar o óculo, mas o óculo não estava lá. Em cima da mesa do átrio havia apenas um porta-cartas de prata.
Christopher roubara-lhe o óculo. O cabrão, pensou Sharpe, o grandes-síssimo e alternadíssimo cabrão. Porque o óculo desaparecera.
- Eu nunca gostei do nome - disse o coronel Christopher. - Nem sequer é uma casa bonita.
- Foi o meu pai que escolheu esse nome - disse Kate. - É retirado de The Pilgrim’s Progress.
- Uma leitura entediante. Meu Deus, quão entediante!
Tinham regressado ao Porto, onde Christopher abrira a negligenciada adega da House Beautiful, para aí descobrir, todas cobertas de pó, garrafas de velho vinho do Porto e, também, de vinho verde, um vinho branco de uma cor quase dourada. Era desse vinho que ele agora bebia, vagueando pelo jardim. As flores desabrochavam, a relva havia sido aparada recentemente e a única coisa que manchava o dia era o cheiro das casas a arder. Havia quase um mês que a cidade caíra e o fumo continuava a pairar sobre as ruínas da parte baixa, onde o fedor era muito pior, devido aos corpos no meio das cinzas. Dizia-se que todos os dias as marés depositavam corpos de afogados nas margens do rio.
Christopher sentou-se sob um cedro e ficou-se a olhar para Kate. Ela era linda, pensou ele, era mesmo uma beleza. Naquela manhã, ele mandara vir um alfaiate francês, o alfaiate do próprio marechal Soult e, para grande embaraço de Kate, fê-lo tirar-lhe medidas para um uniforme de hussardo francês.
- Para que iria eu vestir semelhante coisa? - perguntara Kate.
E Christopher não lhe dissera que tinha visto uma francesa com esse uniforme, com as calças muito justas ao corpo e a casaca muito curta, por forma a realçar-lhe o traseiro perfeito. As pernas de Kate eram mais compridas e mais bem feitas e Christopher, que se sentia rico com os fundos postos à sua disposição pelo general Cradock para encorajar os conspiradores de Argenton, pagara ao alfaiate uma importância exorbitante para o uniforme ficar pronto rapidamente.
- Porquê usar esse uniforme? - respondera ele à pergunta dela. - Porque vais ver que é mais fácil montar a cavalo com calças, porque o uniforme te fica bem, porque isso garante aos nossos amigos franceses que tu não és uma inimiga e, acima de tudo, minha mais que querida, porque isso me dará prazer.
E esta última razão, claro, fora a que a convencera.
- Gostas, de facto, do nome House Beautíful - perguntou-lhe ele.
- Estou acostumada a ele.
- Não propriamente afeiçoada, pois não? Não se trata, para ti, de uma questão de fé?
- De fé? - Kate, de vestido branco de linho, franziu a testa. - Eu considero-me uma cristã.
- Uma cristã protestante - emendou-a o marido - como eu. Mas não achas o nome da casa de certo modo ostensivo, num meio católico?
- Duvido muito - disse Kate, com inesperado azedume - que alguém aqui tenha lido Bunyan.
- Alguns devem ter lido - disse Christopher - e esses saberão que estão a ser insultados. - E, com um sorriso, prosseguiu: - Eu sou um diplomata, não te esqueças. A minha missão é endireitar o que está torto e aplanar as dificuldades.
- É isso o que estás a fazer aqui? - perguntou Kate, com um gesto indi-cando a cidade abaixo deles, onde os franceses governavam gente amargurada, com as casas saqueadas.
- Oh, Kate - disse Christopher tristemente -, isto é progresso!
- Progresso?
Christopher ergueu-se e pôs-se a passear de um lado para o outro, em cima da relva, ficando cada vez mais animado, à medida que lhe explicava como o mundo se estava a transformar rapidamente em redor deles.
- ”Há mais coisas no céu e na terra” - disse-lhe ele - ”do que as que a tua filosofia sonha” - e Kate, que já ouvira a frase mais do que uma vez no seu curto casamento, afastou a irritação e pôs-se a escutar como o marido descrevia que as antigas superstições estavam a perder crédito. - Os reis têm sido destronados, Kate, muitos países, agora, governam-se sem eles. Coisa em tempos impensável! Isso teria sido considerado uma provocação ao plano de Deus para o mundo, mas nós estamos a assistir a uma nova revelação. É uma nova ordem para o mundo. O que é que a gente comum vê aqui? Guerra! Apenas guerra, mas guerra entre quem? Entre a França e a Inglaterra? Entre a França e Portugal? Não! Esta é uma guerra entre a velha maneira de fazer as coisas e uma nova maneira. As superstições estão a ser postas em causa. Eu não estou a defender Bonaparte. Por Deus, de modo nenhum! Ele é um fanfarrão, um aventureiro, mas é, também, um instrumento. Lança fogo ao que está mal nos antigos regimes e abre um espaço por onde as novas ideias penetram. A razão, Kate, é o que anima os novos regimes. A razão, Kate!
- Eu pensava que era a liberdade - sugeriu Kate.
- A liberdade! O homem não tem liberdade nenhuma, a não ser a liberdade de obedecer a regras, mas quem é que estabelece as regras? Com um pouco de sorte, Kate, serão os homens de razão que irão estabelecer regras razoáveis. Homens inteligentes. Homens perspicazes. Em suma, Kate, será um círculo de homens sofisticados que estabelecerá as regras, mas terão de fazê-lo de acordo com os ditames da razão e há alguns de nós em Inglaterra, uns poucos de nós, que compreendemos que vamos ter de aceitar essa ideia. E temos, também, de contribuir para a moldar. Se nos opusermos, então o mundo transforma-se sem nós e vamos ser derrotados pela razão. Temos, por isso, que aliar-nos a ela.
- Com Bonaparte? - perguntou Kate, a aversão na voz.
- Com todas as nações da Europa - disse Christopher, entusiástico. Com Portugal e com a Espanha, com a Prússia e com a Áustria, com a Holanda e, claro, com a França. Temos mais coisas em comum do que o que nos divide e, contudo, guerreamo-nos! Que sentido é que isso faz? Não pode haver progresso sem paz, Kate, nenhum mesmo! Tu queres a paz, não queres, meu amor?
- Fervorosamente - disse Kate.
- Então, confia em mim - disse Christopher. - Confia em que eu sei o que estou a fazer.
E ela confiava nele. Confiava nele porque era jovem e ele era muito mais velho do que ela, confiava nele porque ele advogava ideias muito mais sofisticadas do que os instintos dela. Não obstante, na noite seguinte a confiança dela foi posta à prova, ao surgirem na House Beautiful, para jantar, quatro oficiais franceses com as suas amantes, um grupo chefiado pelo brigadeiro-general Henri Vuillard, um homem alto, bonito e elegante, o qual foi encantador para Kate, beijando-lhe a mão e felicitando-a pela casa e pelo jardim. O ordenança de Vuillard trouxe como presente uma caixa de vinho, embora não com muito tacto, dado que o vinho era um dos melhores Savages, apreendido num dos barcos ingleses bloqueados no cais do Porto pelos ventos contrários, quando os franceses haviam tomado a cidade.
Depois do jantar, os oficiais mais jovens ficaram na sala a fazer companhia às senhoras, enquanto Christopher e Vuillard se passeavam no jardim, os charutos a deixarem um rasto de fumo sob os cedros.
- Soult anda preocupado - confessou Vuillard. Com Cradock?
- Não, Cradock é uma velha histérica - disse Vuillard, mordaz. - Não é verdade que quis retirar-se o ano passado? Mas Wellesley, como é ele?
- É mais duro - admitiu Christopher -, mas nada garante que venha para cá. Ele tem inimigos em Londres.
- Inimigos políticos, presumo eu? - perguntou Vuillard.
- Sim.
- Os piores inimigos de um militar - disse Vuillard. Ele era da mesma idade que Christopher e um dos favoritos do marechal Soult. - Não, Soult anda preocupado - continuou ele - porque estamos a dispersar tropas para proteger as nossas linhas de abastecimento. No raio deste país, matam-se dois camponeses armados de mosquetes antiquados e surgem mais vinte do meio dos rochedos, e esses vinte já não têm mosquetes ’antiquados, mas bons mosquetes ingleses fornecidos pelo, seu país.
- Tomem Lisboa - disse Christopher - e todos os outros portos e o fornecimento de armas acaba.
- É isso que faremos - prometeu Vuillard - a seu tempo. Mas dava-nos jeito mais uns quinze mil homens.
Christopher parou na extremidade do jardim e olhou por momentos para além do Douro. Tinha a cidade a seus pés, o fumo de um milhar de cozinhas a manchar o ar da noite.
- Soult vai declarar-se rei?
- Sabe qual é a alcunha dele agora? - perguntou Vuillard, divertido. Rei Nicolau! Não, ele não fará essa declaração, se tiver bom senso e ele tem bastante bom senso. A população local não o apoiaria, o exército não suportaria isso e o imperador puxava-lhe as orelhas.
Christopher sorriu.
- Mas ele tem essa tentação?
- Sim, ele tem essa tentação, mas Soult detém-se sempre antes de ir demasiado longe. Geralmente.
Vuillard estava a ser cauteloso porque Soult, na véspera, enviara uma carta a todos os generais do seu exército, sugerindo que eles encorajassem os portugueses a declararem o seu apoio para ele se tornar rei. Era, na opinião de Vuillard, uma loucura, mas Soult andava obcecado com a ideia de ser monarca.
- Eu disse-lhe que, se o fizesse, isso iria provocar um motim.
- Isso provoca - disse Christopher - e devo dizer-lhe que Argenton foi a Coimbra e falou com Cradock.
- Argenton é um parvo - lançou Vuillard.
- É um parvo útil - observou Christopher. - Deixe-o continuar a falar com os ingleses e eles ficarão quietos. Para quê empenharem-se se o exército francês se prepara para se desfazer a si próprio?
- Julga isso? - perguntou Vuillard. - Com quantos oficiais conta Argenton?
- Bastantes - disse Christopher - e eu sei o nome deles.
Vuillard riu-se.
- Eu podia mandar prendê-lo e entregava-o a um duo de sargentos de dragões que lhe arrancavam esses nomes em dois minutos.
- Eu dou-lhe os nomes - disse Christopher - a seu tempo. Por ora, caro brigadeiro, dou-lhe antes isto.
Christopher estendeu um envelope a Vuillard.
- O que é isto?
Estava demasiado escuro no jardim para se poder ler.
- É a ordem de batalha de Cradock - disse Christopher. - Ele tem algumas tropas em Coimbra, mas o grosso do exército está em Lisboa. No total, ele dispõe de dezasseis mil baionetas inglesas e de sete mil portuguesas. Está aí tudo pormenorizado. Notará, particularmente, a escassez de artilharia.
- Escassez até que ponto?
- Ele dispõe apenas de três baterias de seis libras - disse Christopher e mais uma de três. Fala-se de que estão a chegar armas mais pesadas, mas são apenas rumores, rumores que, no passado, se revelaram sempre falsos.
- Canhões de três libras! - riu-se Vuillard. - Mais valia atirar-nos pedras. - O brigadeiro bateu com o envelope. - E o que é que pretende de nós?
Christopher deu umas passadas em silêncio, depois encolheu os ombros. - Segundo me parece, general, a Europa vai ser governada por Paris, e não por Londres. E os senhores vão pôr aqui o vosso próprio rei.
- Sem dúvida - disse Vuillard -, e até poderá ser o rei Nicolau, se ele capturar Lisboa rapidamente, mas o imperador tem uma carrada de irmãos. E Portugal vai, provavelmente, tocar a um deles.
- Seja ele quem for - disse Christopher - eu posso ser-lhe útil.
- Por nos dar isto - Vuillard abanou o envelope - e uns quantos nomes que eu posso arrancar a Argenton quando eu quiser.
- Como todos os militares - disse Christopher mansamente - o senhor não é um homem perspicaz. Conquistado Portugal, meu General, vão ter de o pacificar, Eu sei em quem se pode confiar aqui, quem vai colaborar convosco e quem são os vossos inimigos. Sei quem são os homens que dizem uma coisa e fazem outra. Eu detenho toda a informação do Foreign Office. Sei quem espia para Inglaterra, sei quem lhes paga. Conheço os códigos que utilizam e os percursos por onde as mensagens seguem. Sei quem colaborará convosco e quem se oporá. Sei quem vos mentirá e quem vos dirá a verdade. Em suma, general, posso poupar-vos milhares de mortos, a não ser que prefiram mandar as vossas tropas contra os camponeses que se escondem nas montanhas?
- E se nós não conquistarmos Portugal? O que é que lhe acontece, se nós retirarmos?
- Nesse caso, eu fico com os vinhos Savage - disse Christopher calmamente - e os meus chefes em Inglaterra pensarão, muito simplesmente, que eu falhei na tentativa de encorajar um motim nas vossas fileiras. Mas duvido que sejam derrotados. Até hoje, o que é que travou o imperador?
- La Manche - disse Vuillard secamente, referindo-se ao canal da Mancha. Ergueu, então, o charuto. - Você veio ter comigo - disse ele - com notícias de motim, mas nunca me disse o que é que quer em troca. Vai, portanto, dizer-mo agora.
- Eu quero o comércio do vinho do Porto - disse Christopher. - Tão apenas o comércio do vinho do Porto.
A simplicidade da resposta fez Vuillard parar.
- O comércio do vinho do Porto?
- Todo o comércio. O do Croft, o do Taylor Flacigate, o do Burmester, o do Smith Woodhouse, o do Dow, o do Savage, o do Gould, o do Kopke, o do Sandeman, o das caves todas. Eu não quero ser o dono delas, já tenho, ou vou ter, a do Savage, quero é ser o único exportador.
Vuillard levou alguns segundos a compreender o objectivo do pedido.
- Você ia controlar metade do comércio de exportação de Portugal! - disse ele. - Você ficaria mais rico do que o próprio imperador!
- Talvez não - disse Christopher -, porque o imperador vai cobrar-me impostos e eu não lhos posso cobrar a ele. O homem que fica mais impressio-nantemente rico, meu General, é o homem que recebe os impostos, não aquele que os paga.
- Mesmo assim, você ficará muito rico.
- E isso, meu General, é precisamente o que eu pretendo.
Vuillard olhou para o chão, para a relva escura. Alguém tocava cravo na House Beautiful e ouviam-se risos de mulheres. A paz, pensou ele, acabaria por vir e aquele inglês bem-educado talvez pudesse ajudar a estabelecê-la.
- Você não me diz os nomes que eu quero - disse ele - e dá-me uma lista das forças inglesas, mas como posso eu saber se não me está a enganar?
- Isso, não pode.
- Eu quero mais do que listas - disse Vuillard asperamente. - Eu preciso de saber que você está disposto a oferecer-me algo mais tangível, para provar que está do nosso lado.
- Deseja sangue? - perguntou Christopher brandamente, já esperando a exigência.
- O sangue serve, mas não sangue português. Sangue inglês. Christopher sorriu.
- Há uma aldeia em Vila Real de Zedes - disse ele -, onde os Savages têm umas vinhas. Curiosamente, a invasão não a tem perturbado.
Isso era verdade, mas apenas porque Christopher o tinha obtido do coronel de Argenton e dos seus camaradas conspiradores, cujos dragões estavam encarregados de patrulhar aquela parcela do país.
- Mas se lá enviar uma pequena força - prosseguiu Christopher -, vai lá encontrar a oferta de uma pequena unidade de fuzileiros ingleses. São apenas uns quantos, mas estão lá, também, umas tropas portuguesas e alguns rebeldes. Talvez uns cem homens, no total. São seus, mas, em troca, peço uma coisa.
- Que coisa?
- Que poupem a Quinta, a qual pertence à família da minha mulher. Um rosnar de trovão soou do lado norte e os cedros foram recortados por um facho de luz.
- Vila Real de Zedes? - repetiu Vuillard.
- Sim. É uma aldeia perto da estrada de Amarante - disse Christopher e eu desejaria oferecer-lhe algo mais, mas dou-lhe o que posso, como penhor da minha sinceridade. As tropas que lá estão não vão dar muito trabalho. São comandadas por um tenente inglês que não me parece particularmente preparado. O sujeito tem para aí uns trinta anos e ainda é tenente, portanto não-pode ser grande coisa.
Outro estalar de trovão fez Vuillard olhar ansiosamente para o céu.
- Temos de regressar ao quartel antes que comece a chover - disse ele, fazendo, depois, uma pausa. - Não o incomoda o facto de atraiçoar o seu país?
- Eu não atraiçoo coisa nenhuma - disse Christopher, falando, agora, sinceramente. - Se as conquistas da França, meu General, forem dirigidas apenas por franceses, a Europa vai encará-los como aventureiros e como explo-radores. Se partilharem o vosso poder, se cada nação da Europa contribuir para governar cada uma das outras nações, então teremos entrado no prometido mundo da razão e da paz. Não é isso o que o vosso imperador deseja? Um sistema europeu, são as palavras dele, um sistema europeu quer dizer um código de leis europeu, um tribunal europeu, e uma única nação na Europa. Como posso eu atraiçoar o meu continente?
Vuillard sorriu.
- O nosso imperador fala muito, caro inglês. Ele é corso e tem sonhos ferozes. É isso que você é? Um sonhador?
- Eu sou um realista - disse Christopher.
Tinha utilizado o seu conhecimento do motim para cair nas boas graças dos franceses e, agora, reforçava a confiança deles entregando-lhes como sacrifício uma mancheia de soldados ingleses.
Sharpe e os seus homens tinham, pois, de morrer, para que o futuro glorioso da Europa surgisse.
Sharpe ficou magoado com a perda do óculo. Disse para si próprio que era apenas uma bugiganga, um simples arrebique, mas continuava-lhe a doer. Marcava uma proeza, não apenas o salvamento de Sir Arthur Wellesley, mas a posterior promoção a oficial. Por vezes, quando mal ousava acreditar que era um oficial de Sua Majestade, punha-se a olhar pelo óculo e pensava quão longe se encontrava do orfanato de Brewhouse Lane, enquanto outras vezes, embora não o quisesse admitir a si próprio, regozijava-se ao recusar-se a explicar a inscrição no tubo do óculo. Tinha, porém, consciência de que outros homens sabiam. Homens que olhavam para ele com admiração, porque sabiam que ele se tinha batido como um demónio sob o sol da índia.
E, agora, o maldito do Christopher roubara-lhe o óculo,
- O meu Tenente vai reavê-lo - disse Harper, tentando consolá-lo.
- Ah, isso de certeza que vou. Ouvi dizer que Williamson andou à pancada na aldeia, ontem à noite?
- Não chegou a haver pancadaria, meu Tenente. Eu apartei-os,
- Com quem era isso?
- Com um dos homens de Lopes, meu Tenente. Tão refilão como Williamson.
- Devo castigá-lo?
- De modo nenhum, meu Tenente. Eu já tratei disso.
Não obstante, Sharpe declarou a proibição de irem à aldeia, O que, sabia, não ia agradar nada aos homens. Harper pugnou por eles, salientando que havia raparigas bem bonitas em Vila Real de Zedes.
- Há lá então uma moçoila, meu Tenente - disse ele -, tão bonita que faz vir lágrimas aos olhos. E os rapazes só querem passear-se por lá, à tardinha, e dizer ”olá”.
- E deixar por cá algumas criancinhas.
- Isso também - concordou Harper.
- E as raparigas não podem cá vir? - perguntou Sharpe. - Tenho ouvido dizer que algumas vêm cá.
- Sim, algumas vêm cá, meu Tenente, é o que oiço dizer.
- Incluindo uma moçoila de cabelo ruivo que faz vir lágrimas aos olhos? Harper pôs-se a olhar para um milhafre que rondava as encostas, cobertas de giestas, da montanha onde estava a ser erguido o forte.
- Alguns de nós costumamos ir à igreja da aldeia, meu Tenente - disse ele, deliberadamente evitando falar da rapariga de cabelo ruivo, a qual se chamava Maria.
Sharpe sorriu.
- Quantos católicos é que nós temos?
- Sou eu, meu Tenente, o Donnelly, o Carter e o MeNeil. Ah, e o Slattery, claro. Os restantes vão parar ao inferno.
- Slattery! - disse Sharpe. - Fergus não é cristão.
- Eu não disse que ele era cristão, meu Tenente, mas ele vai à missa. Sharpe não conseguiu evitar uma gargalhada.
- Bem, então eu autorizo os católicos a irem à missa. Harper sorriu.
- Isso significa que, no próximo domingo, eles são todos católicos.
- Estamos no exército - disse Sharpe -, portanto, qualquer um que pretenda converter-se vai precisar da minha autorização. Mas você pode levar os outros quatro à missa e vai trazê-los de volta ao meio-dia. E, se eu vier a saber que algum dos outros foi à aldeia, responsabilizo-o a si.
- A mim?
- Sim, você é um sargento, não é?
- Mas os rapazes vêem os homens do tenente Vicente irem à aldeia, meu Tenente, e não vão perceber porque é que a eles não lhes é permitido.
- O tenente Vicente é português. Os homens dele conhecem os costumes locais e nós não. E, mais cedo ou mais tarde, vai haver para aí uma briga por causa das raparigas, uma briga que lhe poderia trazer lágrimas aos olhos, Pat, e nós não precisamos nada disso.
O problema não era tanto as raparigas, embora Sharpe soubesse que elas podiam ser um problema, se um dos seus atiradores se embebedasse, pois esse era o verdadeiro problema. Havia duas tabernas na aldeia, as quais serviam um vinho de pipo barato, e uma boa metade dos seus homens era capaz de se embebedar a ponto de ficarem paralisados, se lhes dessem a oportunidade para isso. E havia uma tentação para esquecer as regras, dada a situação estranha em que os homens se encontravam. Haviam perdido o contacto com o exército, não sabiam o que estava a acontecer, não havia quase nada para fazer e, por isso, Sharpe estava sempre a inventar qualquer coisa para os manter ocupados. No forte já se erguiam novos redutos e Sharpe, tendo descoberto alfaias no celeiro da Quinta, pôs os homens a limparem a vereda do bosque e a carregarem lenha para a torre de vigia e, completado isso, conduziu prolongadas patrulhas pelas redondezas. O objectivo das patrulhas não era procurar o inimigo, mas sim cansar os homens, por forma a estafá-los ao pôr do Sol e fazê-los dormir até de manhã. E, todas as manhãs, Sharpe formava os homens em parada, castigando com tarefas árduas todo aquele em que encontrasse um botão descosido ou com uma mancha de ferrugem no rifle. Eles resmungavam-lhe nas costas, mas não havia problemas com os aldeãos.
Os pipos das tabernas não constituíam o único perigo. A adega da casa estava cheia de pipas de vinho do Porto e de prateleiras de garrafas de vinho branco e Williamson conseguiu deitar a mão à chave da adega, a qual se encontrava escondida num cântaro, na cozinha. E, então, ele, com Sims e Gataker embebedaram-se tremendamente com os melhores Savages, uma piela que terminou muito depois da meia-noite, com os três homens a atirarem pedras às persianas da casa.
Estavam os três designadamente de piquete, sob as ordens de Dodd, um homem de confiança, e Sharpe admoestou-o primeiro a ele.
- Porque é que não participaste deles?
- Eu não sabia onde eles estavam, meu Tenente - respondeu Dodd, os olhos pregados na parede por detrás de Sharpe.
Estava a mentir, claro, mas tão-somente porque os homens se protegiam sempre uns aos outros. Fora o que Sharpe fizera, quando integrara as fileiras e não esperava outra coisa da parte de Matthew Dodd, como este não esperava senão ser castigado.
Sharpe olhou para Harper.
- Arranje-lhe que fazer, nosso Sargento.
- O cozinheiro queixa-se de que os cobres da cozinha precisam de ser convenientemente areados.
- Faça-o suar - disse Sharpe - e nada de ração de vinho durante uma semana.
Segundo o regulamento, os homens tinham direito a cerca de três decilitros de rum por dia e, na ausência do álcool áspero, Sharpe distribuía-lhes vinho tinto, de um pipo que requisitara à adega da Quinta.
Sharpe puniu Sirris e Gataker fazendo-os marchar para baixo e para cima no caminho, de uniforme completo, incluindo capote, e com a mochila às costas, cheia de pedras. Fizeram-no sob a supervisão entusiástica de Harper que, quando eles vomitavam de exaustão e dos efeitos da ressaca, os fazia ajoelhar, limpar o vómito do chão com as mãos e, logo depois, continuar a marchar.
Vicente arranjou na aldeia um pedreiro que murou a entrada da adega e, enquanto se fazia isto e Dodd esfregava os cobres com areia e vinagre, Sharpe levou Williamson para a mata. Sentia vontade de chicotear o homem, pois andava próximo de o odiar, mas Sharpe fora em tempos chicoteado e tinha relutância em aplicar esse castigo. Em vez disso, encontrando um espaço aberto entre uns loureiros, utilizou a espada para traçar duas linhas no chão musgoso. As linhas tinham um metro de comprimento e um metro de largura entre si.
- Tu não gostas nada de mim, pois não, Williamson?
Williamson ficou calado, os olhos postos nas linhas. Ele sabia para que serviam.
- Quais são as minhas três regras, Williamson?
Williamson olhou para cima, o olhar sombrio. Era um homem grande, de cara dura, com patilhas compridas, um nariz partido e marcas de varíola. Era do Leicester, onde fora condenado por roubar dois candelabros da igreja de São Nicolau, tendo-lhe sido colocada a opção de se alistar, em vez de ser enforcado.
- Não roubar - disse ele em voz baixa -, não se embebedar e lutar bem.
- Tu és um ladrão?
- Não sou, não, meu Tenente.
- És sim, Williamson, és um ladrão. Foi por isso que vieste parar ao exército. E embebedaste-te sem autorização para isso. E sabes lutar?
- O meu Tenente sabe bem que sim.
Sharpe soltou o talabarte e deixou-o cair no chão, com a espada. Depois, tirou o quépi e a casaca-verde e atirou tudo para o chão.
- Diz-me lá porque é que não gostas de mim? - pediu Sharpe. Williamson pôs-se a olhar para os loureiros.
- Vá lá! - disse Sharpe. - Diz tudo o que te apetecer. Não serás castigado por responderes a uma pergunta.
Williamson tornou a olhar para ele.
- Nós não devíamos estar aqui - deixou ele escapar.
- Tens toda a razão.
Williamson pestanejou, mas prosseguiu.
- Desde que o capitão Murray morreu, meu Tenente, temos andado entregues a nós próprios. Devíamos ter regressado com o batalhão. Era lá que devíamos estar. O meu Tenente nunca foi o nosso oficial, Nunca!
- Mas agora sou.
- Mas não está certo.
- Portanto, queres regressar a Inglaterra?
- Quero pois, é lá que está o nosso batalhão.
- Mas estamos numa guerra, Williamson. Num raio de uma guerra. E estamos metidos bem no meio dela. Não pedimos para estar aqui, nem sequer queríamos cá estar, mas estamos. E estamos para ficar. - Williamson olhou ressentido para Sharpe, mas não disse nada. - Mas tu podes regressar, Williamson - disse Sharpe e a cara dura olhou para cima, interessada.
- Há três maneiras de tu regressares. Uma, é nós recebermos ordens de Inglaterra. Segunda, ficas muito ferido e eles fazem-te regressar. E, terceira, pões os pés no meio das linhas e bates-te comigo. Ganhes ou percas, Williamson, prometo mandar-te para casa no primeiro navio que encontrarmos. Basta que lutes comigo.
Sharpe postou-se numa das linhas, os calcanhares arrimados a ela. Era assim que os pugilistas se batiam. Arrimavam-se às linhas e punham-se aos murros, de mãos nuas, até um dos homens cair ensanguentado e exausto.
- Ataca-me como deve ser - disse Sharpe - e nada de desistir ao primeiro murro. Tens de me fazer surgir sangue, para provares que estás a tentar a valer. Acerta-me no nariz, é quanto basta.
Sharpe ficou à espera. Williamson humedecia os lábios.
- Vamos a isto! - lançou Sharpe. - Ataca-me!
- O senhor é um oficial - disse Williamson.
- Não, agora não sou. E ninguém nos vê. Somos só nós dois, Williamson, tu não gostas nada de mim e eu estou a dar-te a oportunidade de me esmurrares. Fá-lo como deve ser e eu prometo que passarás o Verão em casa.
Não sabia como é que ia cumprir a promessa, mas tão-pouco pensava que tivesse de a cumprir, pois Williamson, sabia ele, estava a recordar-se da luta épica entre Harper e Sharpe, uma luta que deixara os dois homens a cambalear, mas que Sharpe vencera. Os fuzileiros tinham assistido a isso e, nesse dia, tinham ficado a saber algo a respeito de Sharpe.
E Williamson não queria aprender a lição novamente.
- Eu não luto com um oficial - disse ele, com assumida dignidade. Sharpe voltou-se e apanhou a casaca do chão.
- Então, vai ter com o sargento Harper - disse ele - e diz-lhe que tens que fazer o mesmo que Sims; e Gataker estão a fazer. A dobrar! Williamson correu encosta abaixo. A vergonha de se ter recusado a bater-se podia torná-lo mais perigoso, mas ia diminuir a influência dele sobre os outros homens, os quais, mesmo sem saberem o que acontecera na mata, se aperceberiam de que Williamson tinha sido humilhado.
Sharpe apertou o talabarte e regressou caminhando devagar. Estava preocupado com os homens, receava perder a lealdade deles, receava não ser um bom oficial, recordou-se de Blas Vivar e desejou ter a capacidade do oficial espanhol, o qual induzia à obediência com a simples presença. Talvez aquela autoridade natural fosse produto da experiência. Pelo menos, nenhum dos seus homens tinha desertado. Estavam todos presentes, a não ser Tarrant e os poucos que estavam no hospital, em Coimbra, a recuperarem das febres.
Havia um mês que o Porto caíra. O forte no alto da montanha estava quase concluído e, para surpresa de Sharpe, os homens apreciavam o trabalho árduo. Daniel Hagman já andava de novo, embora devagar, mas estava suficiente-mente consertado para trabalhar e Sharpe mandou colocar uma mesa de cozinha ao sol, onde, a um por um, Hagman desmanchava, limpava e oleava os rifles. Os refugiados que haviam fugido do Porto tinham regressado à cidade, ou encontrado refúgio noutro lado qualquer, mas os franceses estavam a fazer surgir novos refugiados. Quando eram emboscados pelos guerrilheiros, saqueavam depois as povoações mais próximas e, mesmo sem a provocação das emboscadas, pilhavam implacavelmente as quintas, em busca de mantimentos. Cada vez mais gente aparecia em Vila Real de Zedes, na convicção, que se espalhava, de que os franceses tinham acordado poupar a aldeia. Ninguém sabia por que razão o faziam, embora os habitantes mais velhos afirmassem que era porque todo aquele vale estava sob a protecção de São José, cuja estátua de tamanho natural se encontrava na igreja. E o pároco da aldeia, o padre José, encorajava essa crença. Fizera mesmo o santo sair da igreja em procissão, coberto de narcisos e com uma coroa de louros, passeando-o pelas redondezas da aldeia, para mostrar ao santo a extensão precisa das terras que precisavam da sua protecção. Vila Real de Zedes, acreditavam os habitantes, era um santuário onde a guerra não entrava, por disposição de Deus.
Maio chegou com chuva e com vento. As últimas flores foram varridas das árvores, para formarem montículos de pétalas cor-de-rosa e brancas espalhados pela erva. Os franceses continuavam a não aparecer e Manuel Lopes assumia que eles andavam demasiado ocupados para se preocuparem com Vila Real de Zedes.
- Eles estão com problemas - dizia ele, todo feliz. - O general Silveira está a causar-lhes uma grande dor de cabeça, em Amarante, e a estrada para Vigo foi cortada pelos guerrilheiros. Estão isolados! Os caminhos de regresso estão cortados! Não vão incomodar-nos aqui.
Lopes ia com frequência às vilas mais próximas, disfarçado de vendedor ambulante, a vender bugigangas religiosas, e trazia notícias das tropas francesas.
- Eles patrulham as estradas - disse ele um dia -, embebedam-se à noite e queriam era estar em casa.
- E procuram comida - disse Sharpe.
- Sim, também fazem isso - concordou Lopes.
- E um destes dias - disse Sharpe -, quando tiverem fome, aparecem aqui. O coronel Christopher não os deixa fazer isso - disse Lopes. Manuel Lopes passeava com Sharpe ao longo do caminho da Quinta, com Harris e Cooper a observá-los. Harris e Cooper estavam de guarda ao portão da Quinta, o local mais próximo da aldeia autorizado por Sharpe aos seus fuzileiros protestantes. A chuva ameaçava. Cortinas cinzentas cobriam as montanhas do lado norte e Sharpe ouvira já dois estrondos, os quais poderiam ser disparos de canhões em Amarante, mas que pareciam demasiado fortes.
- Eu vou partir em breve - anunciou Lopes.
- Regressa a Bragança?
- Não. Vou para Amarante. Os meus homens estão recuperados, está na hora de voltar à luta.
- Você podia fazer uma coisa, antes de partir - disse Sharpe, ignorando a crítica implícita na última frase de Lopes. - Era dizer aos refugiados para se irem embora da aldeia. Diga-lhes que regressem a casa. Diga-lhes que São José está cansado de trabalhar e não vai poder protegê-los, se os franceses aparecerem.
Lopes abanou a cabeça.
- Os franceses não vão aparecer - insistiu ele.
- E quando eles aparecerem - continuou Sharpe, com idêntica insistência -, eu não poderei defender a aldeia. Não disponho de homens suficientes para isso.
Lopes tinha um ar desaprovador.
- Vai defender apenas a Quinta - sugeriu ele - porque pertence a uma família inglesa.
- Eu quero que a Quinta se lixe - disse Sharpe, irritado. - Eu vou estar lá no cimo da montanha, a tentar salvar a pele. Por amor de Deus, somos menos de sessenta homens! E os franceses vão mandar aí uns mil e quinhentos.
- Eles não vêm aqui - disse Lopes, estendendo a mão para apanhar uns enrugados rebentos de uma vide. - Eu desconfiei sempre do Porto Savage e tinha razão - disse ele.
- Desconfia do quê?
- Uma vide velha - disse Lopes, mostrando as pétalas a Sharpe. Os maus produtores de vinho do Porto misturam mosto de vides velhas ao vinho para o enriquecer em álcool.
Lopes deitou fora as flores e Sharpe, de repente, recordou-se do dia, no Porto, em que os refugiados morreram afogados, quando os franceses tomaram a cidade. Mas recordou-se, principalmente, como Christopher se preparava para escrever a ordem para ele, Sharpe, atravessar o Douro, quando uma bala de canhão acertou numa árvore, provocando uma chuva de pétalas cor-de-rosa e o coronel pensou que eram de uma cerejeira. E Sharpe lembrou-se da expressão na cara de Christopher ao ouvir a palavra ”Judas”.
- Raisparta! - exclamou Sharpe.
- O que foi? - Lopes ficara espantado pela força da imprecação.
- Ele é um sacana de um traidor - disse Sharpe.
- Quem?
- O coronel Christopher - disse Sharpe.
Era apenas o instinto que o levara, tão subitamente, a convencer-se de que Christopher andava a trair a pátria, um instinto fundamentado na recordação do ar ultrajado do coronel, quando ele, Sharpe, dissera que as flores eram de uma árvore-de-judas. Desde então, o espírito de Sharpe balançava entre uma vaga suspeita de traição por parte de Christopher e uma vaga crença de que o coronel talvez estivesse envolvido numa misteriosa missão diplomática, mas a recordação daquela expressão na cara de Christopher a consciência de que era uma expressão de medo, tanto quanto de ultraje, convencera Sharpe. Christopher era não só um ladrão, como também um traidor.
- Você tem razão - disse ele para um Lopes atónito. - Harris! - gritou ele, voltando-se para o portão.
- Meu Tenente?
- Procura-me o sargento Harper. E o tenente Vicente.
Vicente foi o primeiro a aparecer e Sharpe não conseguiu explicar bem porque estava tão seguro de que Christopher era um traidor, mas Vicente não estava inclinado a debater o assunto. Detestava Christopher por ele ter casado com Kate e estava tão farto como Sharpe da vida ociosa que levavam na Quinta.
- Arranje comida - pediu-lhe Sharpe. - Vá à aldeia e peça-lhes para cozerem quanto pão puderem e compre toda a carne salgada que se disponham a dispensar. Ao cair da noite, quero cada homem aprovisionado com rações para cinco dias.
Harper mostrou-se mais contido.
- Pensava que o meu Tenente tinha ordens...
- E tenho, Pat, tenho ordens do general Cradock.
- Santo Deus, meu Tenente, ninguém desobedece às ordens de um general.
- E quem é que obteve essas ordens? - disse Sharpe. - Foi Christopher. Quer dizer que mentiu ao general, como mente a toda a gente.
Não tinha a certeza que assim fosse, nem a podia ter, mas tão-pouco fazia sentido continuar ali parado naquela quinta. Iria para sul e esperava que o capitão Hogan o protegesse da ira do general Cradock.
- Vamos partir logo que seja noite - disse ele a Harper. - Quero que verifique se os homens estão equipados e bem municiados.
Harper cheirou o ar.
- Vamos ter chuva, meu Tenente, chuva da grossa.
- Por isso é que Deus nos deu peles à prova de chuva - disse Sharpe.
- Eu penso que era melhor esperarmos pela meia-noite, meu Tenente. Dávamos tempo à chuva amainar.
Sharpe abanou a cabeça.
- Eu quero sair daqui depressa, Pat. De repente, sinto-me mal aqui. Vamos todos para sul, para o rio.
- Eu pensava que os Sapos tinham queimado os barcos todos?
- Eu não quero ir para leste - disse Sharpe, inclinando a cabeça para o lado de Amarante, onde, diziam, a batalha prosseguia ao rubro -, e, para oeste, há Sapos por todo o lado.
A norte era só montanhas, rochas e fome, mas para sul ficava o rio e ele sabia que algures, para lá do Douro, havia forças inglesas. Além disso, pensava que os franceses não poderiam ter destruído todos os barcos ao longo das margens rochosas do rio.
- Havemos de encontrar um barco - prometeu ele a Harper.
- Vai ser uma noite muito escura, meu Tenente. Teremos muita sorte se não nos perdermos.
- Por amor de Deus - exclamou Sharpe, irritado com o pessimismo de Harper -, há um mês que andamos a patrulhar esta região! Temos obrigação de conhecer o caminho para sul.
Ao fim da tarde, tinham duas sacas de pão, carne de cabra fumada, dura como pedra, dois queijos e uma saca de feijão. Sharpe distribuiu os manti-mentos pelos homens, teve uma inspiração e foi à cozinha da casa, onde se apossou de duas chávenas de chá, considerando que era altura de Kate fazer alguma coisa pela pátria e que não havia nada mais elegante do que doar aos fuzileiros duas belas xícaras de porcelana. Entregou uma a Harper e guardou a outra na mochila. Começara a chover, as bátegas a soarem no telhado da cocheira e a caírem em cascata das telhas para o empedrado do pátio. Daniel Hagman, à porta da cocheira, observava a chuva a cair.
- Eu sinto-me bem, meu Tenente - assegurou ele a Shárpe.
- Nós podemos fazer uma maca, Dan, se não te sentes bem.
- De modo nenhum, meu Tenente. Eu estou fino.
Ninguém queria partir debaixo daquela chuvada, mas Sharpe estava determinado em aproveitar todas as horas de escuridão para abrir caminho até ao Douro. Havia a possibilidade, pensava ele, de atingir o rio pelo meio-dia do dia seguinte e, então, faria os homens descansar, enquanto ele perscrutaria a margem do rio, em busca de meios para o atravessar.
- Carga aos ombros! - ordenou. - Prontos!
Observou Williamson, mas não descortinou relutância, o homem pôs-se a marchar como os outros. Vicente distribuíra rolhas de cortiça que os homens enfiaram na boca dos canos dos rifles e dos mosquetes: As armas não iam carregadas, porque, com a chuva, a escorva desfazia-se. Houve um certo resmungo quando saíram da cocheira, mas inclinaram os ombros e seguiram-no para o pátio e encosta acima, para a mata, onde os carvalhos e os salgueiros prateados estavam a ser despojados de folhas pelo assalto da chuva e do vento. Não tinham andado nem quinhentos metros, já Sharpe se sentia todo encharcado, mas consolava-se pensando que, com aquele tempo, ninguém se atrevia cá fora. A luz do crepúsculo desaparecera rapidamente, oculta pelas nuvens escuras e espessas que se esfregavam na saliência dentada da arruinada torre de vigia. Sharpe estava a seguir por uma passagem que rodeava o lado oeste da montanha da torre de vigia e olhou para a velha construção quando emergiram das árvores, pensando, pesaroso, em todo o trabalho ali aplicado.
Ordenou uma paragem, para permitir a reunião da retaguarda da fila. Daniel Hagman parecia estar a aguentar-se bem. Harper, com duas pernas de cabra pendentes do cinturão, subiu até junto de Sharpe, o qual, de um sítio um pouco mais elevado do que a cota da passagem, observava os homens a chegarem.
- Raio de chuva - disse Harper.
- Ela acaba por parar.
- Acha? - perguntou Harper ingenuamente.
Foi então que Sharpe enxergou um raio de luz no meio da vinha. Não era uma luz, era por de mais baça, muito pequena e muito próximo do chão, mas ele sabia que não a tinha imaginado e amaldiçoou Christopher por lhe ter roubado o óculo. Fixou o olhar no sítio onde a luz aparecera tão brevemente, mas não viu mais nada.
- O que foi? - perguntou Vicente, que subira para junto dele.
- Pensei ter visto um raio de luz - disse Sharpe.
- Deve ser a chuva - disse Harper, sem ligar importância.
- Talvez fosse algum espelho partido - sugeriu Vicente. - Eu, uma vez, encontrei um pedaço de um espelho romano, próximo de Entre-os-Rios. Havia, também, dois vasos partidos e umas moedas de Séptimus Severus. Sharpe não o estava a ouvir, continuava a perscrutar a vinha.
- Entreguei as moedas no seminário do Porto - continuou Vicente, erguendo a voz para se fazer ouvir sobre o ruído da chuva - porque os padres têm lá um pequeno museu.
- O sol não se reflecte nos espelhos quando está a chover - disse Sharpe. Mas algo se reflectira lá em baixo, fora mais uma nódoa de luz, um brilho húmido. Fixou os olhos na passagem entre as videiras e, de súbito, tornou a ver o mesmo. E praguejou.
- Que foi isso? - perguntou Vicente.
- Dragões - disse Sharpe -, dezenas deles. Desmontados e a observarem-nos.
O brilho havia sido a luz fosca a reflectir-se num dos capacetes. Devia haver um rasgão na cobertura de tecido do capacete e o homem, ao correr ao longo da berma, funcionara como um farol, mas, agora que Sharpe distinguira o primeiro uniforme verde no meio das vides verdes, via dezenas deles.
- Os sacanas iam emboscar-nos - disse ele.
Sharpe, a contragosto, sentiu admiração por um inimigo que sabia utilizar semelhante mau tempo, mas, depois, pensou que os dragões se deviam ter aproximado de Vila Real de Zedes durante o dia, sem que ele, por qualquer razão, se apercebesse disso. E não teriam deixado de entender o significado do trabalho que eles haviam empreendido no alto da montanha e deviam saber que o cume escarpado era o refúgio deles.
- Sargento! - lançou ele para Harper. - Para o cimo da montanha, já! Depressa!
E pediu a Deus que não fosse demasiado tarde.
O coronel Christopher bem podia alterar as regras, contudo, as peças do xadrez continuavam a movimentar-se do mesmo modo, embora o conheci-mento que detinha desses movimentos lhe permitisse antever o futuro e, pensava ele, sabia-o fazer com muito mais perspicácia do que qualquer outro homem.
Havia dois desfechos possíveis para a invasão francesa de Portugal. Ou venciam os franceses, ou, o que era muito menos provável, os portugueses, com os seus aliados, os ingleses, escorraçavam as forças de Soult.
Se os franceses ganhassem, Christopher, então, ficaria dono das caves Savage, seria um aliado de confiança dos novos senhores do País e tornar-se-ia imensamente rico.
Se os portugueses e os seus aliados ingleses vencessem, então teria de lançar mão da patética conspiração de Argenton para explicar porque permane-cera no território do inimigo, utilizando o colapso do proposto motim como desculpa para o malogro do seu esquema. E, nesse caso, teria de mover uns certos peões para se manter dono do Savage, o que bastaria para fazer dele um homem rico, embora não imensamente rico.
Portanto, em qualquer dos casos ele nunca perderia, desde que os peões fizessem o que tinham a fazer, e um desses peões era o major Henri Dulong, segundo-comandante do 31º Regimento de Infantaria Ligeira, uma das unidades em Portugal da reputada infantaria ligeira francesa. O 31º sabia que era bom, mas nenhum dos seus soldados se comparava a Dulong, o qual era famoso em todo o exército. Era duro, ousado e impiedoso e, naquele princípio de noite de Maio, ventosa, chuvosa e de nuvens baixas, a sua missão era comandar os seus voltigeurs, levando-os a subir pela passagem sul que conduzia à torre de vigia no cume da montanha sobranceira à Quinta. Tomada aquela montanha, explicara-lhe o brigadeiro Vuillard, as forças isoladas em Vila Real de Zedes não teriam onde se refugiar. Por isso, enquanto os dragões armavam o laço na aldeia e na Quinta, Dulong apossava-se da montanha.
A ideia de atacar ao crepúsculo fora do próprio brigadeiro. Os soldados esperam sempre um ataque ao amanhecer, mas Vuillard tinha a noção de que os homens afrouxavam a vigilância ao final do dia.
- Nessa altura estão já a pensar numa botija de vinho, numa mulher e numa refeição - dissera ele a Christopher.
Marcara, pois, o assalto para um quarto para as oito da noite. O Sol punha-se um pouco antes, mas o crepúsculo estendia-se para além das oito e meia, embora as nuvens se apresentassem tão espessas que Vuillard duvidasse que chegasse a haver crepúsculo. Nem isso interessava. Dulong tinha com ele um bom relógio Breguet e prometera que os seus homens estariam no pico da torre de vigia ao um quarto para as oito, justamente quando os dragões convergissem para a aldeia e para a Quinta. As restantes companhias do 31º subiriam primeiro a encosta arborizada, descendo depois para a Quinta do lado sul.
- Duvido que Dulong encontre alguma resistência - disse Vuillard a Christopher - e vai ficar infeliz por isso. Ele é um danado de um sanguinário.
- Mas deu-lhe a tarefa mais perigosa?
- Só se o inimigo se encontrar no cume da montanha - explicou o briga-deiro. - Mas espero apanhá-los desprevenidos, coronel. E Christopher pôde verificar que as esperanças de Vuillard eram fundamentadas, pois, ao um quarto para as oito os dragões atacaram Vila Real de Zedes, sem encontrarem quase nenhuma resistência. Um ribombo de trovão’ acompanhou o ataque e uma língua de relâmpagos cruzou o céu, reflectindo-se nos espelhos de prata das espadas dos dragões. Uma mancheia de homens resistiram, foram dispa-rados uns mosquetes de uma taberna perto da igreja e Vuillard mais tarde descobriu, ao interrogarem-se os sobreviventes, que tinha sido capturado um bando de guerrilheiros. Uma mancheia deles fugiram, oito foram mortos e muitos mais capturados, incluindo o chefe, o qual se apelidava a si próprio de Professor. Dois dos dragões de Vuillard ficaram feridos.
Uma centena de dragões dirigira-se para a Quinta. Eram comandados por um capitão, iam encontrar-se com a infantaria que desceria pela encosta abaixo e o capitão prometera que a propriedade não seria saqueada.
- Não quer ir com eles? - perguntara Vuillard a Christopher.
- Não - respondera Christopher, observando as raparigas da aldeia a serem levadas para a maior das tabernas.
- Não me admira que não queira ir - dissera Vuillard, ao ver as mulheres. - O espectáculo vai ser aqui.
E o espectáculo de Vuillard começou.
Os aldeãos odiavam os franceses e os franceses odiavam os aldeãos. Os dragões tinham descoberto os guerrilheiros e sabiam como tratar com seme-lhante peçonha. Manuel Lopes e os seus homens foram levados para a igreja e aí forçados a destruírem os altares, as cadeiras e as imagens, juntando tudo, depois, no meio da igreja. O padre José começou a protestar contra o vanda-lismo e os dragões despiram-no, rasgaram-lhe a sotaina em tiras e utilizaram as tiras para atarem o pároco ao grande crucifixo suspenso por cima, do altar-mor.
- Os padres são os piores - explicou Vuillard a Christopher -, pois incitam a sua gente a lutar contra nós. Acho que teremos de matar todos os padres em Portugal, para acabarmos com isso.
Chegavam mais prisioneiros à igreja. Qualquer aldeão que tivesse uma arma em casa ou que enfrentasse um dragão era levado para lá. Um homem que tentara proteger a filha de treze anos foi levado para a igreja e, uma vez lá dentro, um sargento de dragões, armado com um malho retirado da oficina do ferreiro, quebrou os braços e as pernas do homem.
- É mais fácil do que estar a prendê-los - explicou Vuillard. Christopher encolheu-se, ao ouvir os ossos a partirem-se. Alguns homens gemiam, uns poucos berravam, mas a maioria permanecia obstinadamente silenciosa. O padre José foi rezando a oração dos mortos, até que um dragão acabou com ele, partindo-lhe a queixada com uma espadeirada.
Era noite cerrada, agora. A chuva continuava a soar no tecto da igreja, mas menos violentamente. Os relâmpagos iluminavam as janelas do lado de fora. Vuillard dirigiu-se aos cacos de um altar lateral e apanhou uma vela que ardia no chão. Levou-a para a pilha de madeira partida, no meio da igreja, sobre a qual havia sido espalhada pólvora das munições dos dragões, e colocou a vela bem encaixada na pilha, logo recuando. Por um momento, a chama tremeu débil, insignificante, depois houve um silvo e uma chama brilhante elevou-se do meio da pilha. Os homens feridos puseram-se a gritar, à medida que o fumo subia em espiral para as vigas do tecto, enquanto Vuillard e os dragões se retiravam para a porta.
- Arrastam-se como peixes.
O brigadeiro referia-se aos homens que tentavam aproximar-se do fogo na esperança vã de o extinguir. Vuillard riu-se.
- A chuva vai retardar isto - disse ele para Christopher -, mas não muito. O fogo já crepitava, soltando fumo espesso.
- Eles só morrem quando o fogo chegar ao tecto - disse Vuillard - e isso vai levar bastante tempo. É melhor sairmos daqui.
Os dragões trancaram a porta da igreja e foram-se embora. Uma dezena deles ficou por ali, à chuva, para se certificar de que o fogo não alastrava para fora ou de que, coisa improvável, ninguém escapava das chamas. Entretanto, Vuillard levou Christopher e uma dúzia de oficiais para a maior taberna da aldeia, alacremente iluminada por grande quantidade de velas e de lamparinas.
- A infantaria vem apresentar-se aqui - explicou Vuillard -, por isso temos de arranjar alguma coisa para passar o tempo., não é?
- Pois claro - disse Christopher, tirando o chapéu de bicos ao entrar na taberna.
- Vamos comer qualquer coisa e beber o que neste país chamam vinho disse o brigadeiro Vuillard, parando na sala principal, onde as raparigas tinham sido alinhadas e encostadas a uma parede. - O que é que acha? perguntou ele a Christopher.
- Tentadoras - respondeu Christopher.
- De facto são.
Vuillard ainda não confiava inteiramente em Christopher. O inglês parecia demasiado distante, mas agora, pensou Vuillard, ia pô-lo à prova.
- Escolha à vontade - disse-lhe, apontando para as raparigas. Os homens de guarda às raparigas sorriram. As raparigas choravam baixinho.
Christopher deu um passo em direcção das cativas. Se o inglês vacilar, pensava Vuillard, isso indiciaria escrúpulos ou, pior ainda, simpatia pelos portugueses. Havia mesmo alguns no exército francês que exprimiam essa simpatia, certos oficiais que argumentavam que, ao maltratar os portugueses, o exército apenas criava mais problemas, mas Vuillard, como a maioria dos franceses, achava que os portugueses deviam ser punidos com toda a severidade, para que nenhum, nunca mais, ousasse levantar um dedo contra os franceses. Violação, roubo e devassidão destrutiva eram, para Vuillard, uma táctica defensiva e, agora, queria ver Christopher juntar-se a eles num acto de guerra. Queria ver o distante inglês portar-se como os franceses na altura do triunfo.
- Despache-se - disse Vuillard -, que eu prometi aos meus homens que podiam ficar com as que não quiséssemos.
- Escolho a pequenina - disse Christopher ferozmente -, a ruiva.
A rapariga berrou, mas havia muita berraria nessa noite em Vila Real de Zedes.
E, a sul, para os lados da montanha, também.
Sharpe corria. Gritara aos homens para correrem tão rápido quanto pudessem, pusera-se a galgar a encosta e percorrera aí uns cem metros antes de se acalmar e compreender que estavam a fazer tudo mal.
- Atiradores! - gritou ele. - Largar mochilas!
Aguardou que os homens se desenvencilhassem da carga, até ficarem apenas com as armas, os bornais e as cartucheiras. Os homens do tenente Vicente fizeram o mesmo. Seis portugueses e igual número de atiradores ficaram ali, de guarda às mochilas, às sacolas, aos capotes, às peças de carne fumada, enquanto os restantes seguiram Sharpe e Vicente encosta arriba. Seguiam, agora, muito mais depressa.
- Já viu os sacanas lá em cima? - perguntou Harper, ofegando.
- Não - disse Sharpe.
Sabia que os franceses haviam de querer tomar o forte, porque era o ponto mais elevado em quilómetros em redor, e isso significava que deviam ter enviado uma companhia, ou mais, para fecharem o cerco pelo sul e escalarem a montanha. Era, portanto, uma corrida. Sharpe não tinha prova nenhuma de que os franceses já estivessem na corrida, mas não os subestimava. Eles acabariam por aparecer e tudo o que pedia era que ainda não estivessem lá.
A chuva caía mais forte. Com aquele tempo nenhuma arma disparava. Ia ser uma luta de aço molhado, punhos e coronhas de rifles. As botas de Sharpe deslizavam no musgo encharcado e escorregavam nos pedregulhos. Estava a ficar sem fôlego, mas, pelo menos, tinha subido a encosta e encontrava-se agora na passagem que conduzia ao espinhaço norte da montanha e os seus homens tinham alargado e beneficiado a passagem, cortando degraus na rocha, nos sítios mais íngremes, e espetando cunhas de madeira de salgueiro como apoios de mão. Tinha sido trabalho inventado para os manter ocupados, mas que valera a pena, pois, agora, acelerava-lhes o passo. Sharpe continuava à frente, com uma dúzia de atiradores logo atrás dele. Decidiu que não cerraria fileiras enquanto não chegassem ao cimo. Aquilo era uma alhada em que o diabo ia sempre levar a melhor, por isso o importante era alcançar o topo. Olhou lá para cima, por entre o remoinho de chuva e de nuvens, e enxergou apenas rocha molhada e o súbito reflexo de um relâmpago percorrendo a face lisa de um pedregulho. Pensou na aldeia, sabendo que estava condenada. Desejaria ter feito alguma coisa por ela, mas não dispunha de homens suficientes para a defender e tentar avisá-los.
A chuva escorria-lhe pela cara, cegando-o. Resvalava, ao correr. Tinha uma pontada de lado, as pernas pareciam fogo e a respiração raspava-lhe na garganta. O rifle pendia-lhe do ombro, balouçando, a coronha a bater-lhe na nádega quando quis puxar da espada, mas, então, teve de largar o punho da espada para se agarrar a uma rocha, pois as botas estavam a escorregar terrivelmente e os pés a fugir-lhe. Harper estava uns quinze metros atrás, ofegando. Vicente estava a ganhar terreno a Sharpe que, arrancando a espada da bainha, se afastou do rochedo e se forçou a andar de novo. Faiscaram relâmpagos para leste, recortando montanhas e um céu oblíquo à chuva. O trovão estrondeou pelos céus, enchendo-os de um troar zangado, e Sharpe sentiu-se como se estivesse a escalar para o coração do temporal, a escalar para se reunir aos deuses da guerra. A ventania dilacerava-o. O quépi há muito que se fora. O vento rangia, gemia, era abafado pelos trovões e carregado de chuva e Sharpe pensou que não ia conseguir chegar ao topo. E, de repente, encontrou-se junto do muro, o sítio onde a passagem ziguezagueava entre dois dos pequenos redutos que os seus homens haviam erguido. Um relâmpago desfechou uma facada para o vazio húmido e escuro à direita dele. Por um rápido segundo pensou que o cume estava vazio, mas, depois, viu o brilho de uma espada a reflectir o fogo branco do temporal e ficou a saber que os franceses já lá estavam.
Os voltigeurs de Dulong tinham chegado uns segundos antes, mas ainda não tinham tido tempo para ocuparem os redutos do lado norte, onde os homens de Sharpe agora apareciam.
- Corram com eles! - rugiu Dulong aos seus homens.
- Matem os sacanas! - gritou Sharpe aos seus.
A espada de Sharpe deslizou por uma baioneta, chiou contra o bocal do mosquete, atirou-se para a frente, empurrando o homem para trás e martelando-lhe o nariz com a testa, os fuzileiros passando por ele, as lâminas a tinirem na escuridão. Sharpe desfechou o punho da espada na cara do homem que derrubara, arrancou-lhe o mosquete e atirou-o para o vazio, dirigindo-se, depois, para um grupo de franceses que se preparavam para defender o cume. Eles apontaram-lhe os mosquetes e Sharpe apelou à divina providência que estivesse a pensar correctamente, que as pederneiras não pegassem fogo naquela fúria de tempo. Dois homens lutavam à sua esquerda e Sharpe espetou a espada num uniforme azul, cortando-o em tiras. O francês atirou-se para o lado para escapar à lâmina e Sharpe viu Harper a martelar a cabeça do homem com a coronha do rifle.
- Deus salve a Irlanda! - exclamou Harper, de olhos abertos a fixar os franceses que guarneciam a torre de vigia.
- Vamos carregar aqueles sacanas! - gritava Sharpe para os fuzileiros que vinham chegando.
- Deus salve a Irlanda!
- Fogo! - gritou um oficial francês e uma dúzia de pederneiras embateram no aço, fazendo saltar faíscas que se extinguiram à chuva.
- Agora, matem-nos - rugiu Sharpe. - Vamos matá-los todos! Porque os franceses estavam no cume dele, no território dele, e ele sentia uma raiva comparável à fúria do céu prenhe de temporal. Correu montanha acima e os mosquetes franceses baixaram, as compridas baionetas na ponta. Sharpe recordou-se do combate na escarpada brecha de Gawilghur e fez o que então havia feito. Rastejou por baixo das baionetas, agarrou um homem pelos tornozelos e puxou-o. O francês berrou ao ser lançado montanha abaixo, até cair sobre três baionetas que o trespassaram. Entretanto, os portugueses do tenente Vicente, compreendendo que não podiam disparar, puseram-se à pedrada aos soldados franceses e os pedregulhos provocavam sangue e faziam os homens vacilar. Sharpe berrava aos seus fuzileiros para se chegarem ao inimigo e, volteando a espada, afastou uma baioneta e puxou outro mosquete com a mão esquerda, de tal modo que o homem foi lançado para baixo, para a baioneta de Harper. Harris brandia o machado que tinham utilizado para limpar a passagem pelo meio dos salgueiros, loureiros e carvalhos, os franceses retraíam-se perante a arma terrível, as pedras continuavam a chover e os homens de Sharpe, rosnando e ofegando, iam abrindo caminho para cima. Um francês deu um pontapé na cara de Sharpe, Cooper agarrou a bota do homem e enfiou-lhe a baioneta na perna. Harper usava o rifle como um cacete, derrubando os homens ao chão com a sua força de gigante. Um atirador caiu para trás, o sangue a jorrar-lhe da garganta e a diluir-se quase instantaneamente na chuva. Um soldado português tomou o lugar dele, abrindo caminho com a baioneta e berrando insultos’ Sharpe empurrava a espada com as duas mãos contra a massa de corpos, espetava, torcia, puxava, espetava de novo. Um outro português estava ao lado dele, enfiando a baioneta na virilha de um francês, enquanto o sargento Macedo, os lábios encolhidos num rosnar, lutava com uma faca. A lâmina dardejava à chuva, ficava vermelha, era lavada e limpa, ficava de novo vermelha. Os franceses estavam a recuar, retirando-se para o pedaço de plataforma lajeada, em frente das ruínas da torre de vigia e um oficial pôs-se a berrar furiosamente para eles. Depois, o oficial avançou, sabre em riste, e Sharpe foi ao encontro dele. As lâminas entrechocaram-se e Sharpe tornou a desferir uma cabeçada e, à luz de um relâmpago, viu o espanto estampado na cara do francês. O oficial, porém, provinha decerto da mesma escola que Sharpe, pois tentou atingi-lo com uma joelhada nas virilhas e meter-lhe os dedos nos olhos. Sharpe desviou-se para o lado, voltando à carga para bater com o punho da espada no queixo do homem, mas o oficial puramente desapareceu, puxado para trás por dois dos seus homens.
Um sargento francês enorme enfrentou, então, Sharpe, brandindo o mosquete, mas o homem tropeçou e Vicente apareceu de comprida espada em riste, atingindo com a ponta a traqueia do sargento, o qual urrou como um fole perfurado, caindo no chão, num charco de chuva cor-de-rosa. Vicente recuou, chocado, mas os seus homens ultrapassaram-no, espalhando-se pelo reduto sul, entusiasticamente espetando as baionetas nos soldados franceses metidos nos buracos.
O sargento Macedo deixara a faca espetada no peito de um francês e, em vez dela, brandia agora um mosquete francês como um cacete. Um voltigeur tentou tirar-lhe a arma e ficou espantado quando o sargento a deixou ir, dando depois um pontapé na barriga do francês e fazendo-o cair da beira da escarpa. O francês berrou ao cair, o berro ouvindo-se durante um certo tempo. Depois houve um baque seco nas rochas lá em baixo, o mosquete tiniu, mas o som foi engolido pelo ribombar de um trovão.
As nuvens eram fendidas pelos relâmpagos e Sharpe, a espada a escorrer sangue diluído em chuva, gritou para os homens verificarem todas as trincheiras.
- E procurem na torre!
Outro faiscar de relâmpagos revelou a presença de um grande grupo de franceses a meio caminho da passagem sul. Sharpe percebeu que um pequeno grupo de homens mais capazes tinha vindo à frente e fora com esses homens que ele se confrontara. O grosso do grupo, que teria facilmente defendido o cume contra a investida desesperada de Sharpe e de Vicente, atrasara-se.
Vicente distribuía já os seus homens pelas trincheiras mais avançadas. Um atirador jazia morto, junto da torre de vigia.
- Shean Donnelly - disse Harper.
- É pena - disse Sharpe. - Era um dos bons.
- Ele era o diabo de um sacaninha de Derry - disse Harper - que me ficou a dever quatro xelins.
- Era um bom atirador.
- Quando não estava bêbado - concedeu Harper.
Pendleton, o mais jovem dos fuzileiros apresentou o quépi a Sharpe.
- Encontrei-o na encosta, meu Tenente.
- O que é que estavas a fazer na encosta quando devias estar a combater? - perguntou Harper.
Pendleton ficou com um ar preocupado.
- Eu apenas o encontrei, meu Sargento.
- Mataste algum? - quis Harper saber.
- Não, meu Sargento.
- Então, hoje não tens direito ao raio do teu xelim, não achas? Pendleton! Williamson! Dodd! Sims!
Harper organizou um grupo para ir lá abaixo buscar as mochilas e os mantimentos. Sharpe mandou outros dois homens recolherem as armas e as munições dos mortos e feridos.
Vicente guarnecera já o lado sul do forte e a presença dos seus homens foi quanto bastou para dissuadir os franceses de tentarem um segundo assalto. O tenente português dirigia-se agora ao encontro de Sharpe, junto da torre de vigia, onde o vento chiava nas pedras partidas. A chuva abrandava, mas as rajadas de vento continuavam a fazer embater grossas pingas de chuva nas pedras ruídas.
- Que é que vamos fazer quanto à aldeia? - quis Vicente saber.
- Não podemos fazer nada.
- Há lá mulheres e crianças!
- Sei.
- Não os podemos abandonar assim.
- Que é que quer que façamos? - perguntou Sharpe. - Que vamos lá abaixo salvá-las? E, enquanto lá formos, o que é que acontece aqui? Esses sacanas apossam-se da montanha. - Sharpe apontou para os voltigeurs que conti-nuavam a meio caminho da encosta, indecisos entre continuar a subir ou desistir da tentativa. - E, quando lá chegar abaixo - prosseguiu Sharpe o que é que lá vai encontrar? Dragões. Centenas de malditos dragões. E, quando o último dos seus homens cair morto, você terá, então, a satisfação de saber que tentou salvar a aldeia. - Sharpe notou a obstinação na cara de Vicente. Não há, de facto, nada a fazer.
- Temos de tentar - insistiu Vicente.
- Quer ir com alguns homens em patrulha? Então vá, mas o resto fica aqui em cima. Este sítio é a nossa única hipótese de permanecermos vivos. Vicente tiritava.
- Você não vai seguir para sul?
- Se sairmos desta montanha - disse Sharpe - vamos ter os dragões atrás de nós a cortarem-nos as cabeças com as malditas espadas. Nós estamos encurra-lados, tenente. Estamos encurralados!
- Deixa-me, então, ir com uma patrulha à aldeia?
- Três homens - disse Sharpe.
Estava relutante em deixar ir mesmo só três homens com Vicente, mas percebia que o tenente português estava ansioso por saber o que tinha acontecido aos compatriotas.
- Mas mantenha-se a coberto, tenente - avisou-o Sharpe. - Vá pelas árvores. Vá com todo o cuidado!
Vicente estava de volta três horas depois. Havia demasiados dragões e uniformes azuis de infantaria em redor de Vila Real de Zedes e ele não tinha conseguido aproximar-se da aldeia.
- Mas ouvi gritos - disse ele.
- Pois - disse Sharpe -, você tinha mesmo que ir lá ouvi-los.
À frente dele, para além da Quinta, os restos da igreja da aldeia ardiam na noite escura e húmida. Era a única luz que conseguia ver. Não havia estrelas, nem velas, nem lamparinas, apenas o triste brilho avermelhado da igreja a arder.
E, na manhã seguinte, sabia Sharpe, os franceses iriam em busca dele outra vez.
De manhã, os oficiais tomaram o pequeno-almoço em frente da taberna, sob uma latada. A aldeia revelara-se cheia de comida e havia pão recentemente cozido, presunto, ovos e café. A chuva passara, deixando um laivo húmido no vento, mas havia sombras nos campos e a promessa de um dia quente no ar. O fumo das cinzas da igreja derivava para norte, levando com ele o fedor de carne queimada.
Maria, a rapariga ruiva, servia o café ao coronel Christopher. O coronel palitava os dentes com um palito de marfim, mas tirou-o da boca para lhe agradecer.
- Obrigado, Maria - disse-lhe em tom prazenteiro.
Maria encolheu os ombros, inclinando ligeiramente a cabeça, ao retirar-se.
- Ela substituiu o seu criado? - perguntou o brigadeiro Vuillard.
- O malvado desapareceu - disse Christopher. - Fugiu. Desertou.
- Uma troca feliz - disse Vuillard, observando Maria. - Ela é muito mais bonita.
- Ela era bonita - concedeu Christopher. A cara de Maria apresentava contusões que, tendo inchado, a desfeiavam. - E vai tornar a ser bonita.
- Você bateu-lhe fortemente - disse Vuillard, com um laivo de desapro-vação.
Christopher bebeu um gole de café.
- Nós, ingleses, temos um dito, meu Brigadeiro. Um cão, uma mulher e uma aveleira, quanto mais lhes batemos, melhores ficam.
- Uma aveleira?
- Diz-se que, se o tronco for bem açoitado, aumenta a produção de avelãs. Não sei se é verdade, mas sei que uma mulher tem de ser partida, como um cão ou um cavalo.
- Partida! - repetiu Vuillard, admirado com o sangue-frio de Christopher.
- A estúpida da rapariga resistiu-me - disse Christopher -, fez uma briga, por isso tive de lhe mostrar quem é que mandava. Há que ensinar isso a todas as mulheres.
- Mesmo à nossa mulher?
- Especialmente à nossa mulher - disse Christopher -, embora o processo possa ser mais lento. Não se dobra uma boa égua rapidamente, leva o seu tempo. Mas aquela - continuou ele, apontando para Maria com a cabeça -, aquela levou logo umas chicotadas. Não me interessa se está ressentida comigo, mas um homem não quer ver a própria mulher amarga e ressentida.
Maria não era a única pessoa ferida na cara. O major Dulong tinha uma marca negra na cana do nariz e uma carranca tão carregada como a de Maria. Tinha chegado à torre de vigia antes dos ingleses e dos portugueses, mas apenas com um pequeno grupo de homens, e fora surpreendido pela ferocidade com que o inimigo o atacara.
- Deixe-me lá voltar, meu General - impetrou ele a Vuillard.
- Claro que sim, Dulong, claro que sim.
Vuillard não culpara o oficial voltigeur pelo único insucesso da noite. Segundo parecia, as tropas inglesas e portuguesas, que todos esperavam encon-trar nos estábulos da Quinta, tinham decidido dirigir-se para sul, encontrando-se, assim, a meio caminho da torre de vigia quando o ataque começara. O major Dulong, porém, não estava habituado a derrotas e o facto de ter sido repelido do cume da montanha ferira-lhe o orgulho.
- Claro que vai lá voltar - assegurou-lhe o brigadeiro -, mas não por ora. Acho que, primeiro, vamos deixar les belles filles tratar deles à sua boa maneira.
- Les belles filles? - perguntou Christopher, ansioso por saber por que raio ia Vuillard mandar raparigas para a torre de vigia.
- É como o imperador chama aos seus canhões - explicou Vuillard. Temos uma bateria em Valongo e eles devem ter um reforço de obuses. Tenho a certeza de que os artilheiros não se importarão de nos emprestar alguns dos seus brinquedos, não acha. Um dia a praticar tiro e aqueles idiotas no cimo da montanha ficarão tão partidos como a sua ruiva. - O brigadeiro pôs-se a olhar para as raparigas que traziam a comida. - Eu vou observar o nosso alvo quando acabarmos de comer. Talvez me dê a honra de me emprestar o seu óculo?
- Certamente - disse Christopher, empurrando o óculo através da mesa -, mas tenha cuidado com ele, meu caro Wiliard, ele é a minha preciosidade.
Vuillard examinou o tubo de cobre e sabia o inglês suficiente para decifrar a inscrição.
- Quem é este AW?
- Sir Arthur Wellesley, como é óbvio.
- E porque é que ele lhe ficou agradecido?
- Meu caro Vuiliard, você não pode esperar que um cavalheiro lhe responda a semelhante pergunta. Estaria a vangloriar-me, se o fizesse. Basta que lhe diga que não lhe limpei meramente as botas.
Christopher sorriu modestamente, servindo-se, depois, de ovos e de pão. Duzentos dragões fizeram a curta jornada de volta a Valongo. Escoltavam um oficial que levava um pedido de um par de obuses. O oficial e os dragões regressaram nessa mesma manhã. Apenas com um único obus, mas, em relação a isso, Vuillard estava seguro de que era quanto bastava.
O que de facto queria - disse o tenente Pelletieu - era um morteiro.
- Um morteiro? - exclamou o brigadeiro-general Vuillard, admirado com a autoconfiança do tenente. - Está a dizer-me o que é que eu quero?
- O que o meu General quer - disse o tenente, todo cheio de si - é um morteiro. É uma questão de ângulo, meu General.
- É uma questão, nosso Tenente - disse Vuillard, com uma certa ênfase na inferior patente de Pelletieu -, de despejar morte, merda, horror, danação, sobre aqueles impudentes sacanas que estão no raio do cume da montanha. - E apontou para a torre de vigia. Estava na extremidade da mata, onde sugerira a Pelletieu que instalasse o obus e iniciasse a matança. - Não me fale de ângulos! Fale-me de mortes.
- Matar é a nossa missão, meu General - disse o tenente, nada impressionado com a irritação do brigadeiro -, mas eu tenho de me aproximar mais dos impudentes sacanas.
Pelletieu era muito jovem, tão jovem que a Vuillard lhe parecia que ainda não fazia a barba. E era magro como um chicote, tão magro que as calças brancas, o colete branco e a casaca azul-escura, de abas, lhe pendiam do corpo como a roupa velha num espantalho. Um comprido e esquelético pescoço sobressaía-lhe do duro colarinho azul e o nariz, enorme, suportava um par de óculos de lentes grossas que lhe davam a infeliz aparência de um peixe esfomeado, mas foi um peixe vincadamente senhor de si que se voltou para o sargento artilheiro.
- Duas libras a doze graus, não acha? Mas só se pudermos avançar até às trezentas e cinquenta toesas.
- Toesas? - O brigadeiro sabia que os artilheiros utilizavam a antiga medida de comprimento, mas que, a ele, não lhe dizia nada. - Ó homem, porque É que não fala francês?
- Trezentas e cinquenta toesas, quer dizer... - Pelletieu fez uma pausa, enquanto fazia a conta.
- Seiscentos e oitenta metros - avançou o sargento artilheiro, tão magro, tão pálido e tão jovem como Pelletieu.
- Seiscentos e oitenta e dois - disse Pelletieu, precioso.
- Trezentas e cinquenta toesas - ruminou o sargento em voz alta. - Carga de duas libras? Doze graus? Acho que está bem, meu Tenente.
- É o máximo possível - disse Pelletieu, voltando-se depois para o brigadeiro. - O alvo está muito alto, meu General - explicou ele.
- Eu sei que está muito alto - disse Vuillard num tom perigoso -, é o que chamamos uma montanha.
- Toda a gente pensa que os obuses podem fazer milagres em alvos elevados - prosseguiu Pelletieu, ignorando o sarcasmo de Vuillard -, mas os obuses não foram concebidos para ângulos superiores a doze graus em relação ao horizonte. Enquanto um morteiro, esse sim, pode disparar num ângulo muito maior, mas desconfio que o morteiro mais próximo se encontra no Porto.
- Tudo o que quero é matar os sacanas! - rosnou Vuilard, depois acrescentando, ao vir-lhe algo à memória: - E porque não uma carga de três libras? A artilharia, em Austerlitz, utilizou cargas de três libras.
Esteve para acrescentar ”antes de vocês terem nascido”, mas dominou-se.
- Três libras! - Pelletieu inspirou audivelmente, enquanto o sargento revirava os olhos, perante o patentear de ignorância do brigadeiro. - Trata-se de um cano de Nantes, meu General - prosseguiu Pelletieu, à laia de explicação consabida, batendo com a mão no obus. - Fabricado na época da escuridão, meu General, antes da revolução, e foi mal fundido. O par dele explodiu há três semanas, meu General, e matou dois elementos da serventia. Havia uma bolha de ar no metal, uma fundição horrorosa. Não é seguro para além das duas libras, meu General, nada seguro.
Os obuses eram, geralmente, utilizados aos pares, mas a explosão de três semanas atrás tornara o obus de Pelletieu o único da bateria. O obus era uma arma de aspecto estranho, mais parecendo um brinquedo, empoleirado numa carreta de tamanho normal. O cano, de setenta centímetros apenas, estava montado entre duas rodas da altura de um homem, mas o pequeno canhão era capaz de fazer o que outras armas de campo não conseguiam fazer: conseguia disparar num arco elevado. As armas de campo raramente se elevavam a mais de um grau ou dois e as suas balas voavam numa trajectória plana. O obus, porém, expelia as suas granadas para cima, de modo que mergulhavam sobre o inimigo. Eram armas concebidas para dispararem por cima de muralhas defensivas, ou por cima das cabeças da infantaria amiga, mas, como um projéctil lançado ao alto trava de imediato ao aterrar, os obuses não disparavam balas sólidas. Com um canhão vulgar, o projéctil ressalta e continua a ressaltar e, mesmo depois da quarta ou quinta arranhadela, como os artilheiros chamam aos ressaltos, pode ainda mutilar ou matar, mas, com um tiro disparado para o ar, muito provavelmente o projéctil acaba por enterrar-se na erva, sem causar dano. Por isso, os obuses disparavam granadas preparadas para explodirem quando o projéctil caía no solo.
- Duas vezes quarenta e nove, meu General, considerando que trouxemos também o caixotão do outro obus - disse Pelletieu, quando Vuillard lhe perguntou de quantas granadas dispunha. - Noventa e oito granadas e vinte e duas caixas de metralha, meu General. O dobro da munição habitual.
- Esqueça a metralha - ordenou Vuillard.
A metralha, a qual saía do cano de uma arma espalhando-se, como o chumbo do tiro aos pombos, utilizava-se contra tropas em campo aberto, não com infantaria escondida no meio de rochedos.
- Lance as granadas para cima dos sacanas e, se for necessário, mandamos buscar mais munições. Mas não vai ser necessário - acrescentou ele malevola-mente -, porque você vai matar os sacanas, não vai?
- É para isso que aqui estamos - disse Pelletieu com um ar feliz - e, com todo respeito, meu General, não faremos viúvas, se ficarmos aqui a conversar. Sargento! Pás!
- Pás? - perguntou Vuillard.
- Temos de aplanar o terreno, meu General - disse Pelletieu -, porque Deus não pensou nos artilheiros, quando fez o mundo. demasiadas protuberâncias e poucos sítios lisinhos. Mas nós somos muito bons a melhorar a obra de Deus, meu General.
O coronel Christopher tinha estado a inspeccionar o obus, mas ao ver Pelletieu afastar-se, apontou-o a Vuillard.
- Agora já mandam crianças da escola para a guerra?
- Ele parece saber do ofício – disse Vuillard, contra vontade. - E o seu criado, já apareceu?
- Não, o raio do homem desapareceu. Hoje tive eu de fazer a minha barba!
- Teve de fazer a barba? - observou Vuillard, divertido. - A vida é dura, nosso Coronel, às vezes a vida é muito dura.
E, em breve, ia ser mortífera, para os fugitivos abrigados na montanha.
Ao amanhecer, um amanhecer húmido, com as nuvens a fugirem para sudeste e o vento a fustigar ainda o cume escabroso, Dodd enxergara os fugitivos a meio caminho, na encosta norte da montanha. Estavam de cócoras no meio das rochas, claramente a esconderem-se das sentinelas francesas que se alinhavam ao longo da orla da mata. Eram sete, todos homens. Seis eram sobreviventes do bando de Manuel Lopes e o sétimo era Luís, o criado de Christopher.
- Foi o coronel - dissera ele a Sharpe.
- O que é que ele fez?
- Foi o coronel Christopher. Está lá em baixo. Foi ele que os trouxe aqui e disse-lhes que vocês estavam aqui.
Sharpe olhara para baixo, para a aldeia, onde uma mancha negra indicava o local onde se erguera a igreja.
- Ele é um grande sacana! - dissera calmamente.
Mas não estava surpreendido. Não agora. Só se culpava a si próprio por ter levado tanto tempo a perceber que Christopher era um traidor. Interrogou Luís e o criado contou-lhe a viagem ao Sul para falar com o general Cradock, falou-lhe no jantar no Porto, em que o hóspede de honra fora um general francês, disse-lhe como Christopher às vezes envergava um uniforme francês. Porém, honestamente, confessou que não sabia as teias que o coronel tecia. Sabia que Christopher se pavoneava com o belo óculo de Sharpe e, entretanto, conseguira roubar o velho óculo do coronel, o qual estendeu a Sharpe com ar triunfante.
- Tenho pena que não seja o seu, mas o coronel guarda-o no bolso traseiro. E eu, agora, quero combater ao seu lado - disse Luís, todo orgulhoso.
- Já alguma vez combateu? - perguntou Sharpe.
- Uma pessoa aprende - disse Luís -, e não há ninguém melhor que um barbeiro para cortar gargantas. Eu costumava pensar nisso quando fazia a barba aos clientes, como era fácil cortar-lhes a garganta. Mas nunca o fiz, é claro - acrescentou ele pressurosamente, não fosse Sharpe pensar que ele era um assassino.
- Acho que vou continuar a fazer eu próprio a minha barba - disse Sharpe, com um sorriso nos lábios.
Vicente entregou, pois, a Luís um dos mosquetes e uma cartucheira capturados aos soldados franceses e o barbeiro juntou-se aos homens nos redutos que barricavam o topo da montanha. Os homens de Manuel Lopes prestaram juramento como leais soldados portugueses e, - um deles disse que preferia fugir para se juntar aos grupos de guerrilheiros que actuavam a norte, o sargento Macedo espetou-lhe um soco no queixo para o obrigar a jurar.
- Aquele sargento é um gajo porreiro - comentou Harper, aprovadora-mente. O nevoeiro levantara. Os flancos encharcados da montanha Cobriam-se de vapor ao sol matinal, mas a névoa desaparecia à medida que a manhã aquecia. Havia agora dragões em todas as vertentes da montanha. Patrulhavam o vale em todos os sentidos, tinham um forte piquete do lado sul e homens desmontados de sentinela na orla da mata. Sharpe, ao ver que os dragões apertavam o laço, apercebeu-se de que, se ele e os seus homens tentassem escapar, seriam presa fácil dos cavaleiros.
Harper, a cara larga a brilhar de suor, olhou lá para baixo, para a cavalaria.
- Tenho notado uma coisa, meu Tenente - disse ele -, desde que me juntei a si em Espanha.
- Tem notado o quê?
- Tenho notado que somos sempre em menor número e que ficamos sempre cercados.
Sharpe prestava atenção, não a Harper, mas aos ruídos do dia.
- Notou alguma coisa? - perguntou ele.
- Notei, sim, meu Tenente notei que estamos cercados e em menor número.
- Não, não é nada disso. - Sharpe calou-se, pôs-se à escuta e franziu o sobrolho. - O vento está de leste, não está?
- Mais ou menos.
- E não se ouvem armas de fogo, Pat! Harper pôs-se à escuta.
- Santo Deus, meu Tenente, tem razão.
Vicente notara o mesmo e veio ter à torre de vigia, onde Sharpe instalara o posto de comando.
- Não se ouve nada dos lados de Amarante - disse o tenente português, com ar abatido.
- Quer dizer que o combate lá acabou - comentou Harper.
Vicente fez o sinal da cruz, o que dizia da sua convicção de que o exército português que defendia a ponte sobre o Tâmega tinha sido derrotado.
- Não sabemos o que aconteceu - disse Sharpe, numa tentativa de animar Vicente.
Contudo, reconhecer que não sabiam o que estava a acontecer era quase tão deprimente como pensar que Amarante tinha caído. Enquanto o ribombar das armas soara a leste, eles sabiam que havia forças que se batiam contra os franceses, sabiam que a guerra continuava e alimentavam a esperança de um dia se reunirem a forças amigas. O silêncio matinal, porém, era abominável. E, se os portugueses tinham perdido Amarante, o que ia acontecer aos ingleses que estavam em Coimbra e em Lisboa? Iriam embarcar, no largo estuário do Tejo, em navios prontos a zarparem para Inglaterra? O exército de Sir John Moore tinha sido corrido de Espanha e, agora, era a pequena força inglesa que ia ser escorraçada de Lisboa? Sharpe sentiu um súbito e horrível arrepio de medo, ao pensar que podia ser o último oficial inglês no Norte de Portugal e o último osso a ser roído pelo inimigo insaciável.
- Isso não quer dizer nada - mentiu ele, vendo o mesmo receio espelhado nas caras dos companheiros. - Sir Arthur Wellesley está a chegar.
- Esperemos - disse Harper.
- Ele é um bom general? - perguntou Vicente.
- É o melhor de todos - disse Sharpe fervorosamente e, depois, vendo que as suas palavras não incutiam muita esperança, pôs Harper a trabalhar.
Os mantimentos que tinham sido levados para a torre de vigia haviam sido colocados todos a um dos cantos da ruína, por forma a Sharpe os ter debaixo de olho. Os homens, porém, nada tinham comido ainda, por isso encarregou Harper de fazer a distribuição do pequeno-almoço.
- Dê-lhes rações de fome, nosso Sargento - disse-lhe Sharpe -, pois só Deus sabe quanto tempo vamos aqui ficar.
Vicente acompanhou Sharpe até à pequena plataforma em frente da entrada da torre de vigia, donde se puseram a observar os dragões distantes. Vicente parecia distraído e começou a mexer num fio do pesponto branco que lhe ornava o uniforme azul-escuro e, quanto mais ele puxava, mais fio era arrancado da casaca.
- Ontem... - disse ele de repente. - Ontem foi a primeira vez que eu matei um homem com uma espada. - Vicente franziu o cenho, puxando mais uns centímetros da borda da casaca. - Foi uma coisa horrível!
- Especialmente com uma espada dessas - disse Sharpe, apontando a espada de Vicente.
A espada do oficial português era estreita, direita e não particularmente robusta. Era uma espada de parada, para se ver, que não para combates renhidos à chuva.
- Com uma destas - prosseguiu Sharpe, dando uma palmada na pesada espada de cavalaria que lhe pendia do cinto - derrubam-se os sacanas ao chão. Eu não os perfuro, caceteio-os. Você consegue matar um touro com esta espada. Arranje uma espada de cavalaria, Jorge, são espadas feitas para matar. As espadas dos oficiais de infantaria só servem para os bailes.
- O que eu quis dizer é que foi horrível olhar para os olhos do homem explicou Vicente - e, mesmo assim, usar a espada.
- Eu sei o que isso é - disse Sharpe -, mas é o melhor que há a fazer. Uma pessoa tem a tendência é de olhar para a espada ou para a baioneta, não é? Mas se você fitar os olhos deles vai ficar a saber o que eles vão fazer a seguir, ao ver para onde eles olham. Por isso, nunca olhe para o sítio onde os vai atingir. Continue a olhá-los nos olhos e desfira o golpe.
Vicente apercebeu-se de que estava a desfazer o pesponto da casaca e enrolou a linha arrancada em volta de um botão.
- Quando dei um tiro no meu Sargento - disse ele -, pareceu-me irreal. Parecia-me teatro. E ele não ia matar-me. Mas aquele homem ontem à noite! Foi arrepiante.
- Claro que tinha de ser arrepiante - frisou Sharpe. - Um combate como aquele? À chuva e na escuridão? Num combate assim tudo pode acontecer. Um homem tem de atacar depressa e de usar todos os meios, Jorge. Tem de mutilar e de continuar a fazê-lo.
- Muito tem você combatido! - disse Vicente tristemente, como se tivesse pena de Sharpe.
- Sou militar há muito tempo - disse Sharpe - e o nosso exército combate muito. Na índia, na Flandres, aqui, na Dinamarca.
- Na Dinamarca! Porque é que combateram na Dinamarca?
- Só Deus sabe - disse Sharpe. - Tinha a ver com a armada deles. Nós queríamo-la, eles não no-la queriam dar e nós fomos lá tomá-la.
Sharpe estava a olhar lá para baixo, pela encosta do lado norte, para um grupo de uma dúzia de franceses, de tronco nu, que estavam a cavar numa zona de fetos, a uns cem metros da orla da mata. Pegou no óculo substituto que Luís lhe trouxera. Era pouco mais do que um brinquedo, com a lente de fora solta, o que toldava a visão, e tinha muito menos alcance do que o dele, mas, mesmo assim, achou que era melhor do que nada. Focou o óculo, segurou a lente com a ponta de um dedo e apontou ao grupo de franceses.
- Merda! - exclamou ele.
- O que é que se passa?
- Os sacanas arranjaram um canhão - disse Sharpe. - Só espero que não seja um morteiro.
Vicente, espantado, tentava, em vão, enxergar um canhão.
- E o que é que acontece se for um morteiro?
- Morremos todos - disse Sharpe, imaginando a arma em forma de pote a lançar as granadas para o céu, para elas caírem quase na vertical sobre a posição deles. - Morremos todos - repetiu ele - ou tentamos fugir e somos capturados.
Vicente fez de novo o sinal da cruz. Não fizera aquele gesto nas primeiras semanas depois de se encontrar com Sharpe, mas, quanto mais se afastava da vida de advogado, voltavam-lhe os antigos hábitos. A vida, estava ele a aprender, não era ditada pela lei, nem pela razão, mas pela sorte, pela selvajaria e pela fé cega.
- Eu não vejo nenhum canhão - confessou ele por fim. Sharpe apontou para o grupo de franceses a trabalharem.
- Aqueles pederastas estão a aplanar o terreno, para poderem apontar adequadamente - explicou ele. - Não se dispara um canhão numa encosta, se se pretende acertar nalguma coisa.
Sharpe desceu uns passos na encosta.
- Dan!
- Meu Tenente?
- Vê lá onde é que os sacanas vão colocar o canhão, a que distância. Hagman, abrigado por uma rocha, espreitou lá para baixo.
- A um pouco mais de seiscentos metros, meu Tenente. Demasiado longe.
- Podíamos tentar?
Hagman encolheu os ombros.
- Eu posso tentar, meu Tenente, mas talvez seja melhor mais tarde. Sharpe concordou. Era melhor só revelar o alcance dos rifles aos franceses quando a situação se tornasse desesperada.
Vicente, uma vez mais, parecia espantado, por isso Sharpe explicou-lhe as coisas.
- Uma bala de rifle pode alcançá-los, mas é preciso um gênio para acertar a esta distância. E Dan é quase um gênio.
Sharpe reflectia em como podia mandar um pequeno grupo de atiradores encosta abaixo e sabia que entre trezentos e quatrocentos metros eles podiam causar grande dano aos artilheiros. Estes, porém, a essa distância responderiam com metralha e, embora encosta abaixo houvesse bastantes pedregulhos, poucos tinham o tamanho suficiente para abrigar um homem da metralha. Sharpe perderia, então, os soldados. Fá-lo-ia, decidiu, se a arma fosse um morteiro, pois os morteiros não disparam metralha, mas os franceses poderiam ripostar à sua incursão com um forte dispositivo de infantaria. Golpe e contragolpe. Era frustrante. Tudo o que podia fazer era esperar que a arma não fosse um morteiro.
E não era um morteiro. Uma hora depois de o grupo ter começado a fazer uma plataforma nivelada, apareceu o canhão e Sharpe verificou que era um obus. Era mau sinal, mas os homens tinham alguma possibilidade de escapar, pois as granadas dos obuses tinham uma trajectória oblíqua e os homens poderiam abrigar-se por detrás dos grandes rochedos do topo da montanha. Vicente pediu o pequeno óculo e observou os artilheiros franceses a instalarem a peça e a prepararem a munição. Um caixotão, com a tampa almofadada, para os serventes se poderem sentar nela nas deslocações, estava a ser aberto e os sacos de pólvora e os invólucros de granadas a serem empilhados na plataforma nivelada.
- Parece-me uma peça muito pequena - disse Vicente.
- Não precisa de um cano muito comprido - explicou Sharpe -, porque não é uma arma de precisão, apenas faz chover granadas em cima de nós. Vai fazer muito barulho, mas vamos sobreviver - acrescentou ele para tranquilizar Vicente, mas não estava tão confiante como parecia.
Duas ou três granadas certeiras podiam dizimá-los a todos, mas a chegada do obus tinha, pelo menos, a virtude de retirar outro tipo de preocupações da cabeça dos homens, os quais, agora, observavam atentamente a movimentação dos artilheiros. Uma pequena bandeira fora colocada uns quarenta metros à frente do obus, presumivelmente para o oficial que comandava a peça poder avaliar o vento, o qual tenderia a fazer derivar as granadas para oeste. Sharpe viu-os inclinarem a cauda do obus para compensar e, depois, observou-os pelo óculo a introduzirem cunhas sob o cano rodeado de restolho. As armas de campo eram elevadas, geralmente, através de um parafuso, mas os obuses utilizavam as velhas cunhas de madeira. Sharpe apercebeu-se de que o oficial esquelético que supervisionava a peça estava a utilizar as maiores cunhas de que dispunha, tentando obter a máxima elevação possível, de modo a que as granadas caíssem sobre as rochas do cume da montanha. Os primeiros sacos de pólvora estavam a ser colocados junto da peça e Sharpe viu o reflexo de um raio de sol em aço, sinal de que o oficial devia estar a ajustar o detonador da granada.
- Todos abrigados, nosso Sargento! - gritou Sharpe.
Cada homem tinham um sítio para onde ir, um sítio bem protegido pelos grandes rochedos. A maior parte dos homens estavam nas trincheiras, muradas com as pedras, mas uma dúzia deles, incluindo Sharpe e Harper, estavam no interior da antiga torre de vigia, onde existia uma escada que, em tempos, conduzia às muralhas. Restavam apenas quatro degraus, os quais subiam apenas até uma cavidade esburacada na parede de pedra, do lado norte, onde Sharpe se colocou, por forma a observar o que faziam os franceses.
O obus desapareceu numa nuvem de fumo, logo seguida pelo estrondo da explosão da pólvora. Sharpe tentou enxergar o projéctil no céu e viu, então, o fino e ondeante rasto de fumo deixado pelo rastilho a arder. Depois surgiu o som da granada, um trovão a rolar lá em cima e o rasto de fumo passou a uns centímetros por cima da torre de vigia arruinada. Toda a gente estivera a suster a respiração, mas, agora, soltavam-na, pois a granada foi explodir algures na encosta sul.
- Rastilho demasiado comprido - disse Harper.
- Mas na próxima decerto que não - disse Tongue.
Daniel Hagman, pálido, estava sentado, encostado à antiga muralha, de olhos fechados. Vicente e os seus homens estavam um pouco mais abaixo, na encosta, protegidos por um rochedo do tamanho de uma casa. Nada os podia atingir directamente, mas, se uma granada embatesse na frente da torre de vigia, provavelmente cairia em cima deles. Sharpe tentava não pensar nisso. Tinha feito tudo o que podia e sabia que não podia proporcionar uma protecção perfeita a cada um dos homens.
Aguardaram.
- Vamos lá embora com isso! - exclamou Harris.
Harper benzeu-se. Sharpe olhou pelo buraco e viu um artilheiro a levar o bota-fogo ao cano do obus. Não disse nada aos homens, porque o estrondo da arma era suficiente para os avisar. Além disso, ele não estava a olhar lá para baixo para ver quando disparavam o obus, mas para ver quando é que os franceses iam atacar com a infantaria. Era o que seria óbvio eles fazerem. Disparavam o obus para as cabeças dos ingleses e dos portugueses se baixarem e, depois, enviavam a infantaria ao assalto. Sharpe, porém, não viu sinal de ataque. Os dragões mantinham-se à distância, a infantaria não se encontrava à vista e os artilheiros continuavam a trabalhar.
Granada após granada caía no cume da montanha. Depois do primeiro tiro, os rastilhos foram ajustados e as granadas embatiam nas rochas, caíam e explodiam. Monótona, persistentemente, tiro após tiro, cada explosão enviava pedaços de ferro ao rubro a estalarem e a assobiarem pelo amontoado de rochedos. Os franceses, porém, pareciam não se aperceber da boa protecção que os rochedos proporcionavam. O cume tresandava a pólvora, o fumo metia-se por entre os rochedos, tal nevoeiro, e colava-se aos pedregulhos cobertos de líquenes da torre de vigia. Milagrosamente, contudo, ninguém fora ainda ferido com gravidade. Um dos homens de Vicente fora atingido por uma lasca de ferro num braço, mas fora o único dano. Mesmo assim, os homens estavam fartos daquela tortura. Permaneciam sentados, todos encolhidos, a contarem os tiros, os quais eram disparados a intervalos regulares, a um por minuto, e os segundos pareciam alongar-se entre cada um. Ninguém falava e cada tiro era um estrondo que vinha lá de baixo, um estrépito ou uma pancada seca quando a granada embatia, a rasgada explosão da carga de pólvora e a fragmentação do seu invólucro. Uma das granadas não rebentou e todos eles ficaram de respiração suspensa à espera da explosão, até se convencerem de que o detonador não funcionara.
- Quantas granadas terão eles? - perguntou Harper, passado um quarto de hora.
Ninguém respondeu. Sharpe tinha uma vaga ideia de que uma peça de seis libras inglesa levava como munição mais de uma centena de projécteis, na carreta, no caixotão e nas caixas laterais, mas não tinha a certeza disso e a prática francesa, muito provavelmente, era diferente, por isso não disse nada. Entretanto, percorreu o cimo da montanha, indo, da torre de vigia, até junto dos homens nas trincheiras e, depois, observando ansiosamente ambos os flancos da montanha, continuando a não ver sinais de que os franceses preparassem um ataque.
Voltou à torre de vigia. Hagman fizera uma flauta de madeira, talhada à faca, enquanto estivera de convalescença e, agora, punha-se a tocar trechos de velhas melodias. Os pedacinhos de música soavam como chilreio de pássaros, depois o cume da montanha ressoava com a próxima explosão, os estilhaços da granada embatiam na torre e, quando o brutal ruído se extinguia, ressurgia o som soprado da flauta.
- Gostava de saber tocar flauta - disse Sharpe, para ninguém em particular.
- Rabecão - disse Harris -, eu gostava era de tocar rabecão.
- Isso é duro - disse Harper -, porque é muito pesado.
Os homens riram-se e Harper sorriu, todo contente.
Sharpe contava mentalmente os segundos, imaginando o obus a ser puxado para a posição correcta, imaginando a esponja a ser-lhe retirada, o polegar do artilheiro no ouvido da arma, para evitar que o ar comprimido pela nova esponja pegasse fogo aos restos de pólvora na culatra. Extintos os restos de lume no interior do cano, metiam-lhe os sacos de pólvora, depois a granada de seis polegadas, com o rastilho adequadamente cortado a sair da cápsula de madeira, o artilheiro metendo então um espigão no ouvido da arma para abrir um buraco num dos sacos de lona da pólvora, introduzindo depois nesse buraco um canudo cheio de pólvora. Os serventes afastavam-se, cobrindo os ouvidos com as mãos, o artilheiro chegava o morrão ao canudo e foi, então, que Sharpe ouviu o estrondo e, quase instantaneamente, houve um enorme estampido de colisão no interior da torre. Sharpe apercebeu-se de que a granada entrara exactamente pelo buraco que havia no topo da escada truncada, indo cair, com o rastilho a fumegar numa espiral diabólica, no meio dos sacos com os mantimentos. Sharpe olhou para aquilo, viu o fiozinho de fumo a subir a tremer, soube que iam todos morrer ou ficar terrivelmente mutilados quando aquilo explodisse e não pensou, atirou-se tão-somente. Roçou pelo rastilho do detonador, sabendo que era tarde de mais para o arrancar e caiu sobre a granada, comprimindo-a com a barriga, a mente a gritar, porque não queria morrer. Vai ser rápido, pensou ele, vai ser rápido e, ao menos, deixo de tomar decisões, ninguém mais fica ferido, pôs-se a amaldiçoar a granada porque nunca mais explodia e viu-se a olhar para Daniel Hagman, que estava a olhar para ele de olhos abertos, a flauta esquecida a uns centímetros da boca.
- Fique aí mais tempo - disse Harper, sem conseguir ocultar a tensão que sentia - e ainda acaba por chocar o raio da granada.
Hagman começou a rir, depois Harris e Cooper e Harper juntaram-se a ele. Sharpe ergueu-se de cima da granada e verificou que a cápsula de madeira que segurava o rastilho estava negra, queimada, mas, por qualquer razão, o rastilho soltara-se. Agarrou no raio do projéctil e atirou-o pelo buraco fora, ficando a ouvi-lo retumbar encosta abaixo.
- Santo Deus! - disse Sharpe
Estava a suar e a tremer. Encostou-se à parede, desamparado, e olhou para os homens, os quais se desfaziam em gargalhadas.
- Santo Deus! - repetiu ele.
- Se aquilo explodisse, meu Tenente, ficava com uma grande dor de barriga - disse Hagman, e todos rebentaram de novo às gargalhadas. Sharpe sentiu-se sequioso.
- Se não têm mais nada que fazer, meus sacanas - disse ele -, então vão buscar os cantis e bebam uma golada.
Ele andava a racionar a água, como a comida, mas o dia estava quente e sabia que toda a gente tinha sede. Sharpe seguiu os homens lá para fora. Vicente, que não fazia ideia nenhuma do que tinha acontecido, sabendo apenas que uma segunda granada não explodira, tinha um ar ansioso.
- O que é que aconteceu?
- Um rastilho que caiu - disse Sharpe. - Foi só isso.
Foi até à trincheira mais avançada do reduto norte e pôs-se a olhar para o obus. Quantas mais malditas granadas teriam eles? A frequência dos disparos abrandara um pouco, mas isso parecia dever-se mais ao cansaço dos artilheiros do que à escassez de granadas. Observou-os a prepararem novo disparo, sem se preocupar em abrigar-se e a granada explodiu por trás da torre de vigia. O obus recuara dois ou três metros, muito menos do que uma peça de campo e ele observou os artilheiros a empurrarem as rodas com os ombros, para o recolocarem em posição. O ar entre Sharpe e o obus ondeava, dado o calor do dia, aumentado por um pequeno fogo de restolho, provocado pelos disparos do obus. Os disparos sucediam-se há muito tempo e a chama que saía da boca do obus deixara uma mancha em forma de leque de erva e fetos queimados, à frente do cano. E, então, Sharpe viu mais qualquer coisa, qualquer coisa que o intrigou. Abriu o pequeno óculo de Christopher, amaldiçoando a perda do seu, apoiou o óculo numa rocha, olhou intensamente e viu um oficial agachado ao lado de uma das rodas da peça, com uma mão alçada. Fora aquela estranha posição que o intrigara. Por que razão se ia um homem agachar em frente do rodado de uma peça? E Sharpe viu mais alguma coisa. Sombras. O terreno tinha sido limpo naquele sítio, mas o sol, agora, estava mais baixo, produzindo alongadas sombras, e Sharpe pôde aperceber-se de que o terreno limpo tinha sido marcado com duas pedras meio enterradas, cada uma do tamanho de uma bala de canhão de doze libras, e de que o oficial estava a orientar as rodas para junto das pedras. Quando as rodas tocaram nas pedras, o oficial baixou a mão e os seus homens voltaram à tarefa de recarregar o obus.
Sharpe franziu a testa, a reflectir. Por que raio, num belo dia de sol, havia o oficial de artilharia francês de precisar de marcar o sítio do rodado da sua peça? O próprio rodado, guarnecido a ferro, abria sulcos no chão que bastavam para recolocar a arma em posição, após cada tiro. Não obstante, tinham-se dado ao trabalho de colocar também aquelas pedras. Abrigou-se atrás do muro, quando uma erupção de fumo anunciou uma granada. Esta explodiu muito perto e os estilhaços de ferro matraquearam contra os muros que os homens de Sharpe haviam erguido. Pendleton espreitou por cima do reduto.
- Porque é que eles não utilizam balas sólidas, meu Tenente? - perguntou ele.
- Os obuses não empregam balas sólidas - disse Sharpe - e é difícil disparar um canhão numa montanha.
Foi brusco, pois continuava a pensar naquelas pedras. Para quê colocá-las ali? Tê-las-ia imaginado? Mas, quando olhou outra vez pelo óculo, tornou a vê-las.
Depois viu os artilheiros afastarem-se do obus, aparecendo um grupo de soldados de infantaria, mas eram uma mera guarda, para o obus não ficar para ali abandonado.
- Os tipos foram jantar - sugeriu Harper.
Harper trouxera água para os homens das posições mais avançadas e, agora, tinha-se sentado junto de Sharpe. Por um momento ficou com um ar embaraçado, depois sorriu.
- O que fez foi muito corajoso, meu Tenente.
- Você teria feito o mesmo.
- Tenho a certeza que não - disse Harper em tom veemente. - Eu cá teria fugido dali tal gato escaldado, se o raio das minhas pernas funcionassem. - Harper olhou para o obus solitário. - Portanto, por hoje acabou?
- Não acabou, não - disse Sharpe, pois, de repente, compreendera porque é que as pedras ali estavam.
E soube o que tinha a fazer.
O brigadeiro Vuillard, abrigado na casa da Quinta, serviu-se de um cálice do melhor Savage. Tinha a casaca do uniforme azul desabotoada e desapertara um botão das calças, para arranjar espaço para a bela perna de borrego que partilhara com Christopher, uma dezena de oficiais e três senhoras. As mulheres eram francesas, mas não eram, decerto, esposas, e uma delas, cujo cabelo dourado brilhava à luz das velas, sentara-se ao lado do tenente Pelletieu, o qual fora incapaz de tirar os olhos, com seus óculos, do profundo, macio e sombreado rego do peito dela, listado onde o suor formara regatos através do pó-de-arroz que lhe cobria a pele. A simples presença da mulher tornara Pelletieu quase mudo, de tal forma que toda a autoconfiança que patenteara no primeiro encontro com Vuillard desaparecera.
O brigadeiro, divertido com o efeito que a mulher produzia no oficial de artilharia, inclinou-se para a frente, para acender o charuto na vela que o major Dulong lhe estendia. Era uma noite quente, as janelas estavam abertas e uma grande traça pálida esvoaçava em redor do candelabro colocado no centro da mesa.
- É verdade - perguntou Vuillard a Christopher, por entre as fumaças necessárias para acender adequadamente o charuto - que, em Inglaterra, as senhoras devem levantar-se da mesa antes de se acenderem os charutos?
- Sim, as senhoras respeitáveis devem fazê-lo.
Christopher retirara o palito da boca, para responder.
- Mesmo as senhoras respeitáveis, diria eu, são uma atraente companhia, quando se fuma um charuto e se saboreia um cálice de Porto. Vuillard, com um ar satisfeito porque o charuto ardia bem, recostou-se e olhou ao longo da mesa.
- Tenho a certeza - disse ele vivamente - de quem vai responder com precisão à minha próxima pergunta. A que horas haverá luz amanhã?
Houve uma pausa, durante a qual os oficiais olharam uns para os outros, e, depois, Pelletieu ficou todo corado.
- O nascer do Sol, amanhã, meu General - disse ele -, vai ser às quatro e vinte, mas haverá luz suficiente para se ver aos dez para as quatro.
- Tão inteligente - segredou-lhe ao ouvido a loura, que se chamava Annette.
- E qual é a situação da Lua? - perguntou Vuillard. Pelletieu corou ainda mais.
- Não haverá Lua propriamente dita, meu General. A última lua cheia foi a treze de Abril e a próxima será...
A voz dele esvaneceu-se, à medida que se foi apercebendo de que os outros em redor da mesa estavam a escarnecer da erudição dele.
- Faça o favor de continuar, nosso Tenente - disse Vuillard.
- No dia vinte e nove deste mês, meu General. Portanto, por ora temos uma lua de cera no quarto crescente, meu General, muito fininha e que não ilumina nada.
- Eu gosto de uma noite escura - segredou-lhe Annette.
- Você é uma verdadeira enciclopédia andante, nosso Tenente - disse Vuiliard. - Diga-me, pois, que estragos causaram as suas granadas hoje?
- Receio que muito poucos, meu General. - Pelletieu, confundido com o perfume de Annette, parecia prestes a desmaiar. - Aquele cume esta prodigiosa-mente protegido por enormes rochedos, meu General, por isso eles devem ter sobrevivido quase intactos, embora pense que tenhamos matado um ou dois.
- Só um ou dois? Pelletieu parecia desolado.
- Nós precisávamos de um morteiro, meu General. Vuillard sorriu.
- Quando a um homem lhe faltam instrumentos, lança mão de outros. Não é assim, Annette? - Tornou a sorrir e, depois, tirou do bolso do colete um relógio e fez soltar-lhe a tampa. - Quantas granadas lhe restam?
- Trinta e oito, meu General.
- Não as lance todas de seguida - disse Vuillard erguendo depois o sobrolho, em fingida surpresa. - Não tem um trabalho para acabar, nosso Tenente?
O trabalho era ir disparando o obus durante a noite, para evitar que as atormentadas forças no cimo da montanha conseguissem dormir. Depois, uma hora antes da alvorada, o fogo cessaria e Vuillard calculava que o inimigo estaria a dormir quando a infantaria atacasse.
Pelletieu arrastou a cadeira para trás.
- Claro que tenho, meu General, e muito obrigado.
- Muito obrigado?
- Pelo jantar, meu General.
Vuillard fez um gracioso gesto de cortesia.
- Só tenho pena, nosso Tenente, que não possa ficar para o resto do serão. Estou certo de que Mademoiselle Annette gostaria de ouvir falar dos seus carregamentos, dos seus espigões e das suas esponjas,
- Acha que sim, meu General? - perguntou Pelletieu, surpreendido.
- Vá-se embora, nosso Tenente - disse Vuillard -, vá-se lá embora. O tenente escapou-se, perseguido pelo som das gargalhadas. O brigadeiro abanou a cabeça.
- Sabe Deus onde os vamos descobrir - disse ele. - Devemos andar a tirá-los dos berços, limparnos-lhes o leite da mãe dos lábios e mandamo-los para a guerra. Contudo, o jovem Pelletieu sabe do seu ofício. - Balançou o relógio na corrente por um momento, depois meteu-o no bolso. - A primeira luz é aos dez para as quatro, nosso Major - disse ele para Dulong.
- Estaremos prontos - disse Dulong.
Estava carrancudo, o malogro da véspera ainda a amargurá-lo. O hematoma na cara estava negro.
- Prontos e descansados, espero? - disse Vuillard.
- Estaremos prontos - repetiu Dulong.
Vuillard inclinou a cabeça, mas manteve o olhar fixo no major.
- Tomámos Amarante - disse ele - o que significa que grande parte dos homens de Loison podem voltar para o Porto. Com um pouco de sorte, nosso Major, isso quer dizer que teremos forças suficientes para marcharmos sobre Lisboa.
- Espero bem que sim, meu General - retorquiu Dulong, sem saber aonde conduziria a conversa.
- Mas a divisão do general Haudelet continua a limpar a estrada para Vigo - continuou Vuillard -, a infantaria de Foy anda a escorraçar os guerrilheiros das montanhas, por isso as nossas forças continuam dispersas, nosso Major, muito dispersas. Mesmo que as brigadas de Delaborde regressem do exército do general Loison e mesmo com os dragões de Lorge, continuamos demasiado dispersos para marcharmos sobre Lisboa.
- Estou convencido de que vamos conseguir na mesma - disse Dulong lealmente.
- Mas precisamos de todos os homens que possamos reunir. E não quero destacar infantaria valorosa para guardar prisioneiros. Estabeleceu-se o silêncio ao redor da mesa. Dulong sorriu, dando a entender que percebia as implicações das palavras do brigadeiro, mas não disse nada.
- Sou suficientemente claro, nosso Major? - perguntou Vuillard em tom mais duro.
- Perfeitamente, meu General - disse Dulong.
- Portanto, baionetas fixas - disse Vuillard, sacudindo a cinza do charuto - e use-as, nosso major, use-as bem.
Dulong olhou para cima, a cara dura impenetrável.
- Nada de prisioneiros, meu General.
Dulong não entoou a frase como uma interrogação.
- Isso parece-me uma boa ideia - disse Vuillard, sorrindo. - Agora vá-se embora, vá dormir.
O major Dulong partiu e Vuillard serviu-se de mais vinho do Porto.
- A guerra é cruel - disse ele sentenciosamente -, mas a crueldade às vezes é necessária. O resto de vocês - continuou ele, olhando para os oficiais a ambos os lados da mesa - podem preparar-se para regressar ao Porto. Isto, aqui, deve estar terminado por volta das oito da manhã, por isso vamos fixar a hora de marcha para as dez.
Por essa altura, a torre de vigia da montanha já teria caído. O obus ia manter os homens de Sharpe acordados, disparando durante a noite e, à alvorada, quando os homens cansados estivessem a lutar com o sono e uma luz acinzentada começasse a surgir no horizonte, a bem treinada infantaria de Dulong lançar-se-ia à matança.
- À alvorada.
Sharpe mantivera-se a observar até o último laivo do crepúsculo desaparecer da montanha, até não haver mais nada senão escuridão. Só então, acompanhado por Pendleton, Tongue e Harris, ultrapassou o muro, seguindo encosta abaixo. Harper quisera ir também, ficando mesmo zangado por não acompanhar Sharpe, mas ele tinha de ficar a comandar os fuzileiros, caso Sharpe não regressasse. Sharpe gostaria de levar Hagman, mas o homem não estava ainda completamente recuperado, por isso escolhera Pendleton, o qual era jovem, ágil e sagaz, e Tongue e Harris, ambos bons atiradores e inteligentes. Cada um levava dois rifles, mas Sharpe entregara a Harper a comprida espada de cavalaria, pois sabia que a pesada bainha podia embater nas pedras e denunciar a posição deles.
Descer a encosta era tarefa dura e lenta. Havia uma fina sugestão de Lua, mas nuvens dispersas continuamente a cobriam e, mesmo quando aparecia, não proporcionava luz suficiente para iluminar a vereda, por isso eles tinham de perscrutar o caminho, calados, apalpando o terreno à frente deles a cada passo e fazendo mais ruído do que Sharpe gostaria, mas a noite estava cheia de ruídos: insectos, o suspiro do vento a percorrer o flanco da montanha, o grito distante de uma raposa. Hagman teria sido melhor, pensou Sharpe, pois movimentava-se no escuro com a graça de um caçador furtivo, enquanto eles os quatro eram todos citadinos. Pendleton, sabia Sharpe, era de Bristol, onde se alistara no exército para evitar a prisão por ser carteirista. Tongue, como Sharpe, era de Londres, mas Sharpe não se lembrava de onde era Harris e, quando pararam para tomar fôlego e procurar um laivo de luz no meio da escuridão, Sharpe perguntou-lhe.
- Lichfield, meu Tenente - murmurou-lhe Harris -, onde nasceu Samuel Johnson.
- Johnson? - Sharpe não conseguia localizar o nome. - Um que está no primeiro batalhão?
- Exactamente, meu Tenente - murmurou Harris.
Prosseguiram, então, e à medida que a encosta se tornava menos íngreme e eles se acostumavam à caminhada cega, ficaram mais silenciosos. Sharpe sentiu orgulho neles. Não tinham, talvez, nascido para aquele tipo de tarefas, como Hagman nascera, mas tinham-se tornado salteadores e matadores. Envergavam o uniforme verde dos fuzileiros.
E, então, passada para aí uma hora desde que haviam saído da torre de vigia, Sharpe viu o que esperava ver. Um rasto de luz, um mero rasto que logo desapareceu, mas era amarelo e Sharpe apercebeu-se de que provinha de uma lanterna tapada e que alguém, provavelmente um artilheiro, tinha erguido a tampa para lançar um pequeno raio de luz. E, depois, apareceu outra luz, esta vermelha e minúscula, e Sharpe soube que era o bota-fogo.
- Para baixo - sussurrou ele.
Observou o minúsculo brilho vermelho. Estava mais longe do que ele gostaria, mas havia muito tempo.
- Fechem os olhos - soprou ele.
Fecharam os olhos e, um instante depois, o obus estrondeou o fumo, a chama e a granada para a noite, Sharpe ouviu o projéctil a girar por cima dele e viu uma luz sombria nas pálpebras fechadas, depois abriu os olhos e não conseguiu ver nada durante uns segundos. Sentia, porém, o cheiro a pólvora e viu o bota-fogo a mexer-se, quando o artilheiro o afastava.
- Vamos! - disse ele.
Correram encosta abaixo e a lanterna brilhou de novo, com os artilheiros a empurrarem as rodas do obus para as pedras que marcavam a posição que, a despeito da escuridão, eles sabiam ser a adequada. Era disso que Sharpe se tinha apercebido ao pôr do Sol, era essa a razão por que eles tinham marcado o terreno, porque à noite os artilheiros franceses necessitavam de uma maneira fácil para realinharem o obus e as duas grandes pedras eram marcas mais visíveis do que os sulcos no chão. Por isso, Sharpe apercebera-se de que ia haver fogo à noite e ficara a saber o que tinha de fazer.
Passou-se bastante tempo antes de o obus tornar a disparar e, nessa altura, Sharpe e os seus companheiros encontravam-se a menos de duzentos metros de distância e num local não muito mais alto que o obus. Sharpe esperara o segundo tiro muito mais cedo e, então, compreendeu que os artilheiros iam espaçar as granadas pela curta noite, de forma a manterem os seus homens acordados, e isso significava bastante tempo entre os disparos.
- Harris? Tongue? - murmurou ele. - Pela direita. Se tiverem problemas, corram de volta para junto de Harper. Pendleton, vem daí! Conduziu o jovem pela esquerda, andando de cócoras, apalpando o terreno pelo meio das rochas, até pensar que se tinha afastado uns cinquenta metros da vereda. Colocou, então, Pendleton atrás de um rochedo, postando-se ele próprio atrás de uns tojos.
- Sabes o que tens a fazer.
- Sim, meu Tenente.
- Então, diverte-te.
Ele próprio, Sharpe, estava a divertir-se. Isso surpreendia-o, mas estava, Havia um gozo em surpreender assim o inimigo, embora o inimigo, possivelmente, tivesse previsto o que ia acontecer e se tivesse preparado para isso. Não era, porém, altura para se preocupar, era altura de espalhar a confusão e esperou e esperou, até ter quase a certeza de que se tinha enganado e os artilheiros não iam tornar a disparar, mas, depois, a noite foi estilhaçada por uma língua de chama branca, brilhante e alongada, de imediato engolida pela nuvem de fumo. Sharpe teve um repentino relance do obus a recuar, o rodado a rolar a uns trinta centímetros no ar e, logo depois, a visão nocturna desapareceu-lhe dos olhos, levada pela punhalada brilhante de fogo. Ficou à espera, só que, desta vez, apenas uns segundos, até ver o brilho amarelo da lanterna, ficando a saber que os artilheiros estavam a empurrar o rodado do obus para junto das pedras.
Apontou à lanterna. A visão dele era ofuscada pelos efeitos do disparo do obus, mas conseguiu ver bastante bem o quadrado da lanterna. Ia premir o gatilho, quando um dos homens postados à direita da vereda disparou e a lanterna caiu ao chão, soltando a tampa, e Sharpe viu duas silhuetas iluminadas pela luz mais brilhante. Desviou o rifle para a esquerda e premiu o gatilho, ouviu Pendleton disparar, agarrou no segundo rifle e apontou para o facho de luz. Um francês saltou para a frente, para apagar a lanterna, três rifles, um dos quais o de Sharpe, soaram ao mesmo tempo, o homem foi atirado para trás, Sharpe ouviu um tinido, como o de um sino, e percebeu que uma das balas atingira o cano do obus.
A luz, então, apagou-se.
- Vamos embora! - exclamou Sharpe para Pendleton.
Correram os dois mais para a esquerda. Ouviam os artilheiros a gritar, um deles a arfar e a gemer, depois uma voz mais alta a ordenar silêncio.
- Deita-te! - segredou Sharpe.
Estenderam-se ambos no chão. Sharpe começou a laboriosa tarefa de carregar os dois rifles no escuro. Viu uma pequena chama a arder no sítio onde ele e Pendleton tinham estado e percebeu que um dos cartuchos de um dos rifles deles tinham pegado fogo ao restolho. A chama tremeluziu uns segundos, depois viu formas escuras no mesmo sítio e calculou que a infantaria francesa de guarda ao obus andava à procura de quem disparara os tiros, mas, nada encontrando, apagaram o pequeno fogo e retiraram-se para o meio das árvores.
Houve outra pausa. Sharpe ouvia o murmurar das vozes e pensou que os franceses estavam a discutir o que deviam fazer. A resposta foi rápida, traduzida num ruído de passos e Sharpe deduziu que tinham mandado a infantaria explorar as cercanias do obus. Na escuridão, porém, os homens limitaram-se a deambular pelo meio dos fetos, resmungando sempre que embatiam em rochas ou se emaranhavam no restolho. Oficiais e sargentos rosnavam e repreendiam os homens, por de mais receosos de se dispersarem, de se perderem ou de, na escuridão, caírem numa emboscada. Pouco depois, recuaram para o meio das árvores e houve outra longa espera, embora Sharpe ouvisse o ruído da vareta a comprimir a nova granada no cano do obus.
Os franceses, possivelmente, pensavam que os atacantes já ali não estavam, imaginou Sharpe. Havia muito tempo que não se ouviam tiros, a infantaria tinha procedido a uma busca aturada e os franceses deviam sentir-se mais seguros, pois o artilheiro tentava, estupidamente, reavivar o bota-fogo, agitando-o para a frente e para trás uma série de vezes, até a ponta brilhar num vermelho-vivo. Ele não precisava daquele lume todo para pegar fogo ao canudo enfiado no ouvido da peça, mas sim para ver o próprio canudo, mas isso foi como que uma sentença de morte, pois o homem pôs-se a soprar na ponta do bota-fogo e, então, Harris ou Tongue derrubaram-no. Até mesmo Sharpe teve um choque de surpresa perante o estampido do tiro do rifle, tendo num relance avistado uma chama ao longe à sua direita. A infantaria francesa formou, então em filas, o bota-fogo caído foi apanhado e, quando o obus disparou, os mosquetes dispararam uma rajada cruel na direcção de Harris e de Tongue.
E tornaram a aparecer os fogos no restolho. Um surgiu intenso em frente do obus e dois mais pequenos foram provocados pelos invólucros dos mosquetes franceses.
Sharpe, com os olhos ainda turvos da chama da peça, conseguiu não obstante ver os artilheiros a empurrarem o rodado e colocou o rifle em posição. Disparou, mudou de arma e disparou novamente, apontando à mancha negra de homens que empurravam a roda mais próxima do obus. Viu um deles cair. Pendleton disparou também. Mais dois tiros soaram da direita e os fogos no restolho multiplicaram-se. A infantaria francesa compreendeu, então, que os fogos no restolho iluminavam os artilheiros, tornando-os alvos fáceis, e puseram-se, frenéticos, a calcar os pequenos fogos. Não antes, porém, de Pendleton disparar o segundo tiro e Sharpe ver outro artilheiro a ser derrubado.
Do lado de Tongue e de Harris houve ainda um último tiro, antes de as chamas serem por fim apagadas.
Sharpe e Pendleton recuaram cinquenta metros antes de tornarem a carregar os rifles.
- Desta vez atingimo-los - disse Sharpe.
Pequenos grupos de franceses, encorajando-se a altos berros, avançaram para esquadrinhar de novo a encosta, mas, uma vez mais, nada encontraram. Sharpe ficou por ali mais meia hora, disparou quatro tiros e, depois, voltou para o topo da montanha, um percurso que, no escuro, levou quase duas horas, embora fosse mais fácil do que descer, pois já havia luz suficiente no céu para se ver o recorte da montanha e o toco da torre de vigia. Tongue e Harris apareceram uma hora depois, soprando a senha para a sentinela, antes de entrarem todo excitados no forte, pondo-se logo a contar a história da sua façanha.
O obus disparou mais duas vezes durante a noite. O primeiro desses disparos fez chover metralha na parte de baixo da encosta e o segundo, uma granada, rompeu a noite com chamas e fumo a leste da torre de vigia. Ninguém dormiu muito, mas Sharpe muito admirado ficaria se alguém conseguisse dormir bem, depois da tortura daquele dia.
E, antes do romper da aurora, quando o horizonte a leste começava a ficar cinzento, Sharpe fez uma ronda para se certificar de que toda a gente estava acordada. Harper estava a acender uma fogueira junto da parede da torre de vigia. Sharpe proibira qualquer fogueira durante a noite, pois as chamas proporcionariam aos artilheiros franceses uma excelente referência para ajustar o tiro, mas, agora, com a luz do dia a surgir, podia-se fazer um chá em segurança.
- Nós podemos ficar aqui - dissera Harper - enquanto pudermos fazer chá, meu Tenente. Mas, se ficarmos sem chá, teremos de nos render.
A risca cinzenta a leste aumentou, iluminando-se na base. Vicente, ao lado de Sharpe, tiritava, pois a noite havia sido surpreendentemente fria.
- Acha que eles vão atacar? - perguntou ele.
- Com toda a certeza - disse Sharpe.
Ele sabia que a munição do obus não era inesgotável e que só podia haver uma razão para continuar o fogo durante a noite. E a razão era destroçar os nervos dos seus homens, por forma a torná-los presa fácil para o ataque matinal. E isso queria dizer que os franceses iam atacar à alvorada.
E a luz ia aumentando, lívida, cinzenta e pálida como a morte, os cimos das nuvens mais altas estavam já de um vermelho dourado, enquanto a luz de cinzenta se tornava branca e de branca passava a dourada e de dourada a vermelha.
E a matança ia começar.
- Meu Tenente! Tenente Sharpe!
- Eu estou a vê-los!
Formas negras misturadas com as sombras negras da encosta norte. Era a infantaria francesa ou, talvez, dragões a pé, a atacarem.
- Preparar rifles!
Ouviram-se os estalidos dos cães dos rifles Baker a serem armados.
- Os seus homens não disparam, entendido? - disse Sharpe para Vicente.
- Claro - respondeu Vicente.
Os mosquetes eram absolutamente inoperantes a distâncias superiores a cinquenta metros, por isso Sharpe ia reservar a descarga portuguesa como última defesa, encarregando os seus fuzileiros de explicarem aos franceses as vantagens das estrias no último quarto dos canos dos rifles.
Vicente balouçava para a frente e para trás nos calcanhares, denunciando o nervosismo que sentia. Passou com os dedos no pequeno bigode e humedeceu os lábios.
- Esperamos até eles alcançarem aquela rocha branca, não é?
- Sim, é isso - disse Sharpe. - E porque é que não rapa esse bigode? Vicente olhou para ele, espantado.
- Porque é que não rapo o meu bigode? Nem acreditava no que ouvira.
- Rape-o - disse-lhe Sharpe. - Ficará a parecer mais velho é menos advogado. Luís pode rapar-lho.
Conseguiu desviar o espírito de Vicente das preocupações e, depois, pôs-se a olhar para leste, onde o nevoeiro pairava nas terras baixas. Daquele lado nada os ameaçava e colocara quatro dos fuzileiros a vigiarem o lado sul. Postara lá apenas quatro homens porque tinha quase a certeza de quê os franceses iam concentrar as suas tropas numa das vertentes da montanha e, quando tivesse a absoluta certeza disso, traria os quatro homens para a vertente norte e poria alguns homens de Vicente a guardarem a vertente sul.
- Quando estiverem prontos, rapazes! - gritou Sharpe. - Mas não atirem demasiado alto!
Sharpe não sabia, mas os franceses estavam atrasados. Dulong quisera ter os homens próximo do topo antes do horizonte ficar cinzento, mas a subida da encosta no escuro levara mais tempo do que ele previra e, além disso, os seus homens estavam perturbados e cansados, depois de passarem a noite à caça de fantasmas. Só que os fantasmas eram reais e tinham morto um artilheiro, ferido mais três e enchido de medo os restantes. Dulong, com ordens para não fazer prisioneiros, sentia algum respeito pelos homens que ia enfrentar. E, então, começou o massacre.
Era um verdadeiro massacre. Os franceses tinham mosquetes, os ingleses tinham rifles e os franceses tinham de convergir para a estreita cumeada que dava acesso ao pequeno planalto do cume e, uma vez na cumeada, eram alvo fácil para os rifles. Seis homens caíram nos primeiros segundos e a resposta de Dulong foi conduzir os homens para cima, queria subjugar o forte à força de homens, mas mais rifles estrepitavam, mais fumo surgia no topo da montanha, mais balas se alojavam nos homens. E Dulong compreendeu então o que só tinha ouvido em palestras: a potência de um cano estriado. A uma distância a que uma descarga de mosquetes de um batalhão inteiro era capaz de não matar um único homem, os rifles ingleses eram mortais. As balas, notou ele, produziam um som diferente. Havia um ligeiro guinchar na chicotada ameaçadora. As armas não tossiam como os mosquetes, antes produzindo um estampido ao detonarem, e um homem atingido por uma bala de rifle era atirado muito mais para trás do que era com uma carga de mosquete. Dulong via, agora, os fuzileiros, pois eles estavam de pé nas trincheiras de rocha a recarregarem os rifles, ignorando a ameaça das granadas do obus que, esporadicamente, arqueando por cima das cabeças dos soldados franceses, iam explodir na crista. Dulong gritava para os homens dispararem contra o inimigo de uniforme verde, mas os tiros de mosquete eram fracos, as descargas não chegavam lá, os tiros de rifle continuavam a atingi-los e os homens estavam relutantes em escalar a parte mais estreita da cumeada. Dulong, então, sabendo que o exemplo é tudo e na convicção de que um homem, com um pouco de sorte, podia escapar às balas dos rifles e alcançar os redutos, decidiu dar o exemplo. Gritou para os homens, empunhou o sabre e carregou.
- Pela França - gritou ele -, pelo imperador!
- Cessar fogo! - gritou Sharpe.
Nenhum homem seguira Dulong, nem um único. Dulong avançou sozinho e Sharpe, reconhecendo a coragem do francês e, para o demonstrar, avançou uns passos e ergueu a espada num cumprimento formal.
Dulong viu o cumprimento, parou, voltou-se e verificou que estava sozinho. Tornou a olhar para Sharpe, ergueu o sabre, depois embainhou-o com um gesto violento, demonstrando o desgosto perante a relutância dos seus homens de morrerem pelo imperador. Inclinou a cabeça a Sharpe, voltou para trás e, vinte minutos depois, o resto dos franceses tinha desaparecido da montanha.
Os homens de Vicente tinham-se disposto em duas fileiras na plataforma da torre de vigia, prontos para a descarga que não fora necessária. Dois deles tinham sido mortos por uma granada do obus e outra das granadas espetara um estilhaço do invólucro na perna de Gataker, abrindo-lhe um golpe sangrento pela anca direita abaixo, mas sem atingir o osso Sharpe nem notara que o obus continuara a disparar durante o ataque, mas agora estava calado. O Sol estava no alto, os vales estavam inundados de luz e o sargento Harper, o rifle manchado de pólvora e quente dos disparos, preparava o primeiro bule de chá do dia.
Um pouco antes do meio-dia, um soldado francês subiu a montanha, com uma bandeira branca atada à ponta do cano do mosquete. Acompanhavam-no dois oficiais, um deles com o uniforme azul da infantaria francesa e o outro, o coronel Christopher, na sua inglesa casaca-vermelha, com as lapelas e os punhos pretos.
Sharpe e Vicente foram ao encontro dos dois oficiais, os quais se tinham postado uma dezena de metros à frente do homem com a bandeira branca. Vicente ficou impressionado com a semelhança de Sharpe com o oficial de infantaria francês, um homem alto, de cabelo preto e com uma cicatriz na face direita e uma ferida na cana do nariz. O amarrotado uniforme azul ostentava os galões orlados a verde, que indicavam que ele pertencia à infantaria ligeira, e o arrebicado quépi ostentava na frente uma placa de metal, gravada com a águia francesa e o número 31. A placa era encimada por umas plumas vermelhas e brancas, as quais pareciam novas, comparadas com o uniforme manchado e amarrotado do francês.
- Matamos primeiro o sapo - dissera Sharpe a Vicente -, porque ele é o mais perigoso e, depois, cortamos Christopher às postas, devagarinho.
- Sharpe! - exclamara Vicente, chocado. - Eles estão sob a protecção da bandeira de tréguas.
Pararam a uns passos do coronel Christopher, o qual tirou um palito da boca, atirando-o fora.
- Como está, Sharpe? - perguntou ele cordialmente, erguendo depois uma mão para suster a resposta. - Um momento, por favor - disse o coronel e, com uma mão só, abriu um isqueiro e acendeu um charuto. Quando o charuto começou a arder satisfatoriamente, fechou a tampa do isqueiro e sorriu. - O meu companheiro é o major Dulong. Ele não fala uma palavra de inglês, mas queria encontrar-se consigo.
Sharpe olhou para Dulong e reconheceu o oficial que avançara tão corajosamente, montanha acima, e sentiu pena por um homem tão decente ter voltado a subir a montanha na companhia de um traidor. De um traidor e de um ladrão.
- Onde é que está o meu óculo? - perguntou Sharpe a Christopher.
- Está lá em baixo - respondeu Christopher, despreocupado. - Devolvo-lho mais tarde. - Ergueu o charuto e olhou para os corpos dos soldados franceses, no meio das rochas. - O brigadeiro Vuillard foi um pouco precipitado, não acha? Quer um charuto?
- Não.
- Como queira. - O coronel puxou uma longa fumaça. - Você portou-se muito bem, tenho orgulho em si, O 31º Ligeiro - disse ele, inclinando a cabeça para apontar Dulong - não está habituado à derrota, mas você mostrou aos Sapos como se bate um inglês, não foi?
- E como se batem os irlandeses - disse Sharpe - e os escoceses, os galeses e os portugueses.
- É muito correcto da sua parte recordar as raças menores - disse Christopher -, mas, agora, tudo acabou. Chegou a altura de fazer as malas e partir. Os Sapos oferecem-lhe honras de guerra e tudo. Podem partir de arma ao ombro, as vossas cores desfraldadas e o que se passou, passou. Eles não queriam, Sharpe, mas eu convenci-os.
Sharpe tornou a olhar para Dulong e pareceu-lhe distinguir um aviso nos olhos do francês. Dulong não abrira a boca, mantendo-se um passo atrás de Christopher e dois passos para o lado. Sharpe desconfiou que o major se distanciava deliberadamente dos desígnios de Christopher.
Sharpe tornou a olhar para Christopher.
- Você pensa que eu sou um parvo chapado, não é? Christopher ignorou o comentário.
- Acho que não vai ter tempo de chegar a Lisboa. Cradock vai-se embora, dentro de um ou dois dias, e o exército vai com ele. Eles vão voltar a casa, Sharpe. Regressam a Inglaterra, por isso, o melhor que você tem a fazer é esperar no Porto. Os franceses prometeram repatriar todos os cidadãos britânicos, num navio que deve partir do Porto dentro de uma ou duas semanas, e vocês podem embarcar nele.
- Você vai embarcar nele? - perguntou Sharpe.
- Muito provavelmente sim, Sharpe. Obrigado por querer saber e, perdoe-me a imodéstia, acho que vou regressar à pátria para ser recebido como um herói. Como o homem que trouxe a paz a Portugal! Devo ter um grau de cavaleiro à minha espera, não acha? Não que isso me interesse muito, mas tenho a certeza de que Kate muito apreciará ser Lady Christopher.
- Se não estivesse sob a protecção da bandeira de tréguas - disse Sharpe - eu dava cabo de si já. Sei o que tem andado a fazer. Anda a jantar com generais franceses, trá-los aqui para correrem connosco. Você é um traidor, Christopher, não passa de um reles traidor.
A veemência do tom de Sharpe fez surgir um pequeno sorriso no rosto austero do major Dulong.
- Oh, meu Deus! - Christopher parecia magoado. - Oh, meu Deus, meu Deus. - Fixou, por momentos, o olhar no cadáver de um francês e, depois, abanou a cabeça. - Vou esquecer a sua impertinência, Sharpe. Suponho que o raio daquele meu criado se juntou a si, não foi? Era o que eu pensava. Luís tem uma especial tendência para interpretar mal as circunstâncias. - Levou o charuto à boca, expelindo depois uma pluma de fumo que rodopiou ao vento. - Eu fui enviado aqui, Sharpe, pelo Governo de Sua Majestade, com instruções para descobrir se valia a pena defendermos Portugal, ou seja, se valia a pena derramar sangue britânico aqui, e cheguei à conclusão, com a qual sei que não concorda, de que não valia a pena. Por isso, obedeci à segunda parte da minha incumbência, a qual consistia em estabelecer um acordo com os franceses. Não se trata de uma rendição, mas de um acordo. Nós retiramos as nossas forças e eles retiram as deles, embora, por uma questão de forma, eles fiquem autorizados a fazer desfilar uma divisão simbólica pelas ruas de Lisboa. Depois vão-se embora: bonsoir, adieu e au revoir. Em finais de Julho, não haverá um único soldado estrangeiro em Portugal. E isso é obra minha, Sharpe, e, para isso, foi necessário jantar com generais franceses, com marechais franceses e com oficiais franceses. - Fez uma pausa, como que à espera de alguma reacção, mas Sharpe ficou calado, continuando com um ar céptico, e Christopher soltou um suspiro. - É esta a verdade, Sharpe, embora lhe pareça difícil acreditar nela, mas lembre-se de que ”há mais coisas...”
- Eu sei - interrompeu-o Sharpe. - Há muitas coisas no céu e na terra que eu desconheço, mas que raio veio você fazer aqui? - perguntou ele, a voz agora zangada. - E tem andado com um uniforme francês, disse-me Luís.
- Geralmente, não podemos andar de uniforme vermelho atrás das linhas francesas, Sharpe - disse Christopher -, e a roupa civil, nos dias que correm, não infundem muito respeito, por isso, sim, às vezes visto um uniforme francês. É um estratagema de guerra, Sharpe, um estratagema de guerra.
- Um estratagema, uma porra - rosnou Sharpe. - Esses sacanas querem chacinar os meus homens e você trouxe-os aqui!
- Oh, Sharpe! - exclamou Christopher, com um ar triste. - Nós precisá-vamos de um lugar tranquilo para assinarmos os termos do acordo, um lugar onde a multidão não pudesse exprimir as suas opiniões grosseiras e, por isso, eu propus a Quinta. Confesso que não considerei a sua situação como devia ter feito, foi erro meu de que peço desculpa. - Concedeu mesmo a Sharpe uma sugestão de vénia. - Os franceses chegaram aqui, consideraram a sua presença uma armadilha e, contra a minha opinião, tentaram atacá-lo. Peço mais uma vez desculpa, Sharpe, muito profundamente, mas o que lá vai, lá vai. Você pode ir-se embora, não se rende, conserva as armas, sai daqui de cabeça erguida, com as minhas mais sinceras congratulações e, naturalmente, eu não deixarei de relatar ao seu coronel as suas façanhas aqui. – Esperou pela resposta de Sharpe e, como não houve nenhuma, sorriu. - E, claro - continuou ele -, terei muito prazer em devolver-lhe o óculo. Esqueci-me completamente de o trazer agora.
- Você não se esqueceu coisa nenhuma, seu sacana - rugiu Sharpe.
- Sharpe - disse Christopher, com ar reprovador - não seja bruto. Tente compreender que a diplomacia é subtileza, inteligência e, sim, também artifício. E tente compreender, igualmente, que eu negociei a sua liberdade. Pode sair desta montanha em triunfo.
Sharpe estava de olhos fixos na cara de Christopher, a qual parecia sem malícia nenhuma, toda ela regozijo por ser ele o portador daquelas notícias. E o que é que acontece se ficarmos aqui? - perguntou ele.
Não faço a mínima ideia - disse Christopher -, mas, claro, posso tentar sabê-lo, se for esse o seu desejo. Mas acho, Sharpe, que os franceses vão considerar essa sua obstinação um acto hostil. Há no nosso país, infelizmente, quem se oponha ao nosso acordo. São pessoas mal avisadas que preferem lutar em vez de aceitarem uma paz negociada e, se você ficar aqui, isso vai encorajá-las a persistirem na loucura. E suspeito que, se você insistir em ficar, desse modo desrespeitando os termos do acordo, os franceses vão mandar vir morteiros do Porto e vão fazer tudo para o convencer a partir. - Ia levar o charuto à boca, mas depois hesitou, ao ver um corvo a debicar os olhos de um dos cadáveres. - O major Dulong gostaria de recolher estes corpos - disse ele, apontando com o charuto para os corpos dos homens atingidos pelos fuzileiros de Sharpe.
- Terá uma hora para o fazer - disse Sharpe - e só pode trazer dez homens com ele, todos desarmados. E diga-lhe que alguns dos meus homens também estarão na encosta, desarmados como os dele.
Christopher franziu o sobrolho.
- Para que precisam os seus homens de vir para campo aberto na encosta? - perguntou ele.
- Porque temos de enterrar também os nossos mortos - disse Sharpe e lá em cima é só rochas.
Christopher tornou a meter o charuto na boca.
- Eu acho que seria muito melhor, Sharpe - disse ele gentilmente -, se você fizesse descer os seus homens já.
Sharpe abanou a cabeça.
- Vou pensar nisso - disse ele.
- Vai pensar nisso? - repetiu Christopher, parecendo agora irritado. E quanto tempo, se me permite perguntar, vai você levar a pensar nisso?
- Vou levar o tempo que levar - respondeu Sharpe -, e aviso-o já que, às vezes, levo muito tempo a pensar.
- Tem uma hora, nosso Tenente - disse Christopher -, precisamente uma hora.
Dirigiu-se em francês a Dulong, o qual baixou a cabeça a Sharpe, que retribuiu o gesto. Depois, Christopher deitou fora o charuto apenas meio fumado, rodou nos calcanhares e foi-se embora.
- Ele está a mentir - disse Sharpe. Vicente não estava tão certo disso.
- Tem a certeza disso?
- Vou dizer-lhe porque é que tenho a certeza - disse Sharpe. - O sacana não me deu uma única ordem. Isto é o exército. No exército não se sugere, dão-se ordens. Faz isto, faz aquilo, mas ele não. Ele já me deu muitas ordens, mas hoje não.
Vicente ia traduzindo para o sargento Macedo, o qual, com Harper, tinha sido convidado a ouvir o relato de Sharpe. Ambos os sargentos, como Vicente, pareciam perturbados, mas não diziam nada.
- Por que razão - perguntou Vicente - não lhe terá ele dado ordem nenhuma?
- Porque ele quer que eu abandone este cume por minha vontade, porque o que vai acontecer lá em baixo não é nada de bom. Porque ele estava a mentir.
- Não pode ter a certeza disso - disse Vicente teimosamente, mais parecendo o advogado que fora do que o militar que era agora.
- Nós não podemos ter a certeza de coisa nenhuma - resmungou Sharpe.
Vicente olhou para leste.
- As armas calaram-se em Amarante. Talvez haja paz?
- E porque é que haveria paz? - perguntou Sharpe. - O que é que os franceses vieram cá fazer, afinal de contas?
- Vieram impedir-nos de comerciar com a Inglaterra - disse Vicente.
- Então, para que haveriam eles de retirar-se agora? O comércio recome-çaria logo. Não, eles não terminaram ainda a tarefa e os franceses não costumam desistir tão depressa.
Vicente reflectiu uns momentos.
- Talvez se apercebam de que vão perder muitos homens. Quanto mais se embrenharem em Portugal, mais inimigos vão encontrar e mais longas vão ser as vias de abastecimento a proteger. Ou talvez sejam sensíveis.
- Eles são uns malditos Sapos - disse Sharpe - e não sabem o significado dessa palavra. E há ainda outra coisa. Christopher não nos mostrou nenhum documento, pois não? Nenhum acordo assinado e selado.
Vicente considerou o argumento e depois baixou a cabeça, reconhecendo o seu peso.
- Se quiser - disse ele -, eu vou lá abaixo e peço para me mostrarem o documento.
- Não existe documento nenhum - disse Sharpe - e ninguém vai sair deste cume.
Vicente fez uma pausa. Isso é uma ordem?
É, sim, é uma ordem - disse Sharpe. - Nós vamos ficar aqui. Nesse caso, ficamos - disse Vicente.
Deu uma palmada nas costas de Macedo e saiu, para ir dizer aos seus homens o que se passava.
Harper sentou-se junto de Sharpe.
- Tem mesmo a certeza?
- Claro que não tenho a certeza absoluta, Pat - disse Sharpe, irritado mas acho que ele está a mentir. Ele nem sequer me perguntou quantas baixas tínhamos tido! Se estivesse do nosso lado, tinha perguntado, ou não?
Harper encolheu os ombros, como se não soubesse responder à pergunta.
- E o que é que nos pode acontecer, se partirmos?
- Fazem-nos prisioneiros e recambiam-nos para França.
- Ou para casa?
- Se a guerra acabou, Pat, eles mandam-nos para casa, mas, se a guerra acabou, então alguém mais nos vai dizer. Um oficial português, qualquer outra pessoa. Ele é que não, Christopher é que não. E, se a luta acabou, porque dar-nos apenas uma hora para nos decidirmos? Se a guerra tivesse acabado, nós teríamos o resto das nossas vidas para largarmos esta montanha, não apenas uma hora.
Sharpe pôs-se a olhar para a encosta, onde o último corpo dos soldados franceses mortos estava a ser removido por uma secção de soldados de infantaria, os quais haviam subido a vereda desarmados e com uma bandeira branca. Comandava-os o major Dulong, o qual se lembrara de trazer duas pás para os homens de Sharpe poderem enterrar os seus mortos: os dois portugueses mortos pela granada, no ataque da alvorada, e o atirador Donnelly que ficara estendido no cume, sob uma pilha de pedras, desde que Sharpe correra com os homens de Dulong do topo da montanha.
Vicente mandara o sargento Macedo, com mais três homens, abrir as covas dos dois portugueses mortos e Sharpe entregara a outra pá a Williamson
- Abrir a cova é o fim do teu castigo - dissera-lhe Sharpe.
Desde a confrontação na mata, Sharpe dera a Williamson trabalhos extra, para o manter ocupado e lhe vergar o espírito, mas reconhecia que já o punira bastante.
- Mas deixa o rifle cá em cima - acrescentara Sharpe.
Williamson agarrara na pá, atirara o rifle com brusquidão desnecessária e, acompanhado por Dodd e Harris, descera a encosta, até encontrarem um sítio com bastante terra por cima das rochas para abrirem uma cova. Harper e Slattery levaram o corpo de Donnelly para baixo e rolaram-no para dentro da cova. Harper, depois, dissera uma oração, Slattery baixara a cabeça e, agora, Williamson, de tronco nu, devolvia a terra à cova, enquanto Dodd e Harris observavam os soldados franceses a levarem as suas baixas. Harper também observava os soldados franceses.
- O que é que acontece se eles trouxerem um morteiro - perguntou ele.
- Estamos lixados - disse Sharpe. - Mas muita coisa pode acontecer antes de chegar aqui um morteiro.
- O que é que pode acontecer?
- Eu sei lá - disse Sharpe, irritado.
Na verdade, não sabia, como tão-pouco sabia o que havia de fazer. Christopher tinha sido muito persuasivo e era apenas uma camada de teimosia que o fazia desconfiar que o coronel mentia. Isso e o olhar do major Dulong.
- Talvez eu esteja enganado, Pat, talvez eu me engane. A questão é que eu gosto disto aqui.
Harper sorriu.
- Gosta disto aqui?
- Gosto de estar longe do exército. O capitão Hogan é um gajo porreiro, mas o resto... não suporto o resto.
- Meninos - disse Harper, referindo-se aos oficiais.
- Sinto-me melhor sozinho - disse Sharpe -, e, aqui, estou por minha conta. isso, vamos cá ficar.
- Sim - disse Harper - acho que tem razão.
- Sharpe parecia surpreendido.
- Sim - disse Harper -, embora a minha mãe achasse que eu, a pensar, era um zero.
Sharpe riu-se.
- Vá-se embora, Pat, vá limpar o rifle.
Cooper fervera uma vasilha de água e um grupo de fuzileiros estava a lavar os canos dos rifles com ela. Cada tiro depositava sempre um pouco de pólvora no cano que, amontoada, podia inutilizar a arma, mas a água quente dissolvia os resíduos. Alguns fuzileiros preferiam urinar nos canos. Hagman usava a água quente, secando depois o cano com a vareta.
- Quer que limpe o seu, meu Tenente - perguntou ele a Sharpe.
- O meu pode esperar, Dan - disse Sharpe.
Sharpe viu, então, o sargento Macedo e os seus homens a regressarem e pôs-se a pensar onde andariam os seus. Foi até à trincheira mais avançada do reduto norte e viu Harris e Dodd a calcarem a terra da campa de Donnelly e Williamson a descansar, apoiado na pá.
- Ainda não acabaram? - gritou Sharpe para eles. - Despachem-se!
- Vamos já, meu Tenente! - respondeu Harris.
Ele e Dodd apanharam as casacas do chão e começaram a subir a encosta. Williamson ergueu a pá, parecendo ir segui-los e, de repente, largou a pá, voltou-se e pôs-se a correr encosta abaixo.
- Meu Deus! - exclamou Harper, aparecendo ao lado de Sharpe e erguendo o rifle.
Sharpe baixou-lho. Não pretendia salvar Williamson, mas havia uma trégua na montanha, e mesmo um único tiro podia ser olhado como quebra da trégua e o obus podia responder com Dodd e Harris ainda em terreno aberto.
- Que grande sacana!
Hagman observou Williamson a correr desalmadamente encosta abaixo, como que a querer bater em corrida a bala esperada.
Sharpe foi assaltado por um terrível sentimento de culpa. Nunca gostara de Williamson, mas, mesmo assim, era sempre culpa do oficial, quando um homem desertava. O oficial nunca era punido, claro, e o homem, se fosse agarrado, era fuzilado, mas Sharpe sabia que a culpa era dele. Era a negação da sua capacidade de comando.
Harper viu a expressão amargurada na cara de Sharpe e não a compreendeu.
- Ficamos melhor sem esse sacana, meu Tenente - disse ele.
Dodd e Harris estavam espantados e Harris ainda se voltou, como se quisesse perseguir Williamson, mas Sharpe chamou-o.
- Não devia ter mandado Williamson abrir a cova - disse Sharpe amargamente.
- Porque não? - disse Harper. - Não podia saber que ele ia desertar.
- Não gosto de perder homens - disse Sharpe, sempre amargo.
- A culpa não foi sua - protestou Harper,
- Então de quem foi? - perguntou Sharpe, furioso.
Williamson desaparecera para as fileiras francesas, presumivelmente para se juntar a Christopher, e a única consolação é que não pudera levar o rifle com ele. Mas continuava a ser um malogro, pensava Sharpe.
- É melhor abrigarmo-nos - disse ele a Harper. - Eles vão começar a disparar a maldita peça dentro em pouco.
O obus começou a disparar faltavam dez minutos para a uma, embora, como ninguém no topo da montanha tinha relógio, eles não pudessem saber isso.
A granada atingiu um rochedo logo abaixo da primeira trincheira e ricocheteou para o céu, explodindo numa chuva de fumo, chama e assobiantes estilhaços do invólucro desfeito. Um estilhaço de ferro quente enterrou-se na coronha do rifle de Dodd, os restantes matraqueando as rochas.
Sharpe, ainda a recriminar-se pela deserção de Williamson, observava a estrada principal do vale. Havia lá poeira e ele conseguiu distinguir cavaleiros vindos do noroeste, da estrada do Porto. Trariam um morteiro com eles? Se o trouxessem, pensou ele, então tinha de arranjar forma de escapar dali. Talvez, se fossem rápidos, conseguissem abrir uma brecha no cordão de dragões, a oeste, e alcançar as colinas, onde o chão rochoso tornaria as coisas muito difíceis para os cavalos, mas isso ia significar uma passagem sangrenta pelos primeiros oitocentos metros. A não ser que tentasse à noite? Mas se era um morteiro que ali vinha, ia estar em acção antes de a noite cair. Fixou o olhar na estrada distante, amaldiçoando o defeituoso óculo de Christopher, persuadindo-se de que não via nenhuma espécie de veículo, nem carreta de peça, nem carroção de morteiro no meio dos cavaleiros, mas eles estavam muito longe e não podia ter a certeza.
- Meu Tenente?
Era Hagman a chamá-lo.
- Posso fazer agora uma experiência com aqueles sacanas?
Sharpe continuava a magicar no seu malogro e o primeiro impulso foi dizer ao velho caçador furtivo que era uma perda de tempo. Depois, tomou consciência do estranho ambiente que se estabelecera na montanha. Os homens estavam embaraçados com a atitude de Williamson. Muitos deles, possivel-mente, temiam que Sharpe, na sua ira, punisse todos por causa do pecado de um deles e, outros, embora poucos, talvez desejassem seguir Williamson, mas, provavelmente, sentiam que a deserção era uma vergonha para eles todos. Constituíam uma unidade, eram amigos, tinham orgulho uns nos outros e un deles tinha, deliberadamente, menosprezado esse companheirismo. Agora, porém, Hagman oferecia-se para recuperar um pouco do orgulho perdido e Sharpe aquiesceu.
- Vamos a isso, Dan - disse Sharpe. - Mas só tu. Apenas Hagman! - gritou ele para os outros fuzileiros.
Ele sabia que todos eles gostariam de atirar aos artilheiros à vontade, mas a distância era prodigiosa, mesmo no limite do alcance do rifle e apenas Hagman tinha a perícia para, pelo menos, lá chegar perto.
Sharpe tornou a olhar para a distante nuvem de poeira, mas os cavalos tinham metido pelo caminho mais estreito que conduzia a Vila Real de Zedes e, por mais que fixasse a vista, não conseguia perceber se eles escoltavam algum veículo, por isso apontou o óculo à equipa do obus e verificou que eles lhe metiam uma nova granada no cano.
- Abriguem-se!
Apenas Hagman ficou em campo aberto. Estava a carregar o rifle, primeiro despejando no cano pólvora do corno. Geralmente, usava um cartucho com a pólvora e a bala convenientemente enroladas em papel de embrulho, mas, para aquele género de tiro, a uns seiscentos metros, empregava a pólvora de alta qualidade que trazia no corno. Despejou um pouco mais do que a que um cartucho conteria e, depois de carregar o cano com a pólvora, colocou a arma de lado e pegou na mancheia de balas soltas depositadas em cima das folhas de chá que trazia no fundo da bolsa de munições. A granada do inimigo passou ao lado da torre de vigia e foi explodir na íngreme encosta oeste, sem provocar danos, embora o estrondo repercutisse nos tímpanos dos homens e o invólucro estilhaçado matraqueasse furiosamente as rochas. Hagman nem sequer olhou. Estava a rolar as balas com o dedo médio da mão direita, uma a uma na palma da mão esquerda e, quando teve a certeza de ter encontrado a mais perfeita, guardou as outras e pegou no rifle de novo. No fundo da coronha havia uma pequena cavidade, coberta com uma tampa de metal. A cavidade tinha dois compartimentos, o maior contendo os utensílios de limpeza do rifle, enquanto o mais pequeno estava cheio de pedaços de couro, de um couro muito fino e flexível, besuntados com gordura. Pegou num dos pedaços, fechou a tampa de metal e viu Vicente a olhar atentamente para ele. Hagman sorriu.
- É uma operação muito lenta, não é, meu Tenente?
Hagman envolveu, então, a bala no pedaço de couro, de tal forma que, quando o rifle disparasse, a bala dilatada iria comprimir o couro contra as paredes do cano. O couro iria, também, reter os gases da explosão, concen-trando a potência da pólvora.
Depois, Hagman enfiou no cano do rifle a bala envolvida no pedaço de couro, utilizando, então, a vareta para a comprimir para baixo. Era um trabalho duro e ele estava de cara torcida, com o esforço, e fez um gesto de agradeci-mento a Sharpe, quando este o substituiu na tarefa. Sharpe apoiou o cabo de aço da vareta contra uma rocha e empurrou o rifle lentamente para a frente, até sentir que a bala se encostava e comprimia a pólvora. Retirou a vareta, enfiou-a nos aros por debaixo do cano e devolveu a arma a Hagman que, por sua vez, se serviu da pólvora do corno para encher a escorva. Alisou a pólvora com um indicador negro e tornou a sorrir a Vicente.
- É como uma mulher, meu Tenente - disse Hagman, dando palmadinhas no rifle -, tomem conta dele, que ele toma conta de nós.
- Notou que ele deixou o tenente Sharpe fazer o trabalho todo, meu Tenente? - disse Harper, malicioso.
Vicente riu-se e Sharpe, de repente, lembrou-se dos homens a cavalo e, puxando do pequeno óculo, apontou-o à estrada que conduzia à aldeia, mas tudo o que restava dos recém-chegados era a poeira levantada pelos cascos dos cavalos. Os cavaleiros estavam ocultos pelas árvores em redor da Quinta e, não podendo, pois, saber eles se tinham trazido um morteiro ou não, pôs-se a praguejar. Bem, iria sabê-lo dentro em breve.
Hagman estendeu-se de costas no chão, os pés voltados para o inimigo, e depois, encostou a nuca a uma rocha. Tinha os calcanhares cruzados e servia-se do ângulo formado pelas botas para apoiar a boca do cano do rifle e, como a arma tinha pouco mais de um metro de comprimento, tinha de inclinar o tronco desajeitadamente para poder apoiar a coronha no ombro. Ajeitou-se, por fim, a coronha do rifle encostada ao ombro, o cano a percorrer-lhe o comprimento do corpo e, embora a posição parecesse canhestra, era a preferida pelos fuzileiros peritos, porque permitia manter o rifle bem firme.
- O vento, meu Tenente?
- Fraco, da esquerda para a direita - disse Sharpe. - Muito fraco, Dan.
- Muito fraco - repetiu Hagman mansamente, armando depois o cão. O cão em pescoço de cisne fez um ligeiro guincho ao comprimir a mola e depois houve um estalido quando a lingueta prendeu o cão. Hagman ergueu a alça o máximo possível, alinhando-lhe a ranhura pela mira da boca do cano. Teve de baixar a cabeça incomodamente para ver ao longo do cano. Respirou fundo, expirou metade do ar e reteve a respiração. Toda a gente no topo da montanha estava a conter a respiração.
Hagman fez uns ligeiros ajustamentos, inclinando o cano para a esquerda e puxando a coronha para baixo, para dar mais elevação à arma. Era não só um tiro impossível a longa distância, mas, além disso, ia disparar encosta abaixo, o que era notoriamente muito difícil. Ninguém se mexia. Sharpe observava a equipa do obus pelo óculo. O artilheiro levava o bota-fogo para junto da culatra e Sharpe sabia que devia interromper a concentração de Hagman e mandar os homens abrigarem-se, mas nesse momento Hagman puxou o gatilho, o estampido do tiro espantou os pássaros da encosta da montanha, pairou fumo por cima das rochas e Sharpe viu o artilheiro rodopiar, largando o bota-fogo e agarrando-se à anca direita. Cambaleou uns segundos e depois caiu ao chão.
- Anca direita, Dan - disse Sharpe, sabendo que Hagman não podia ver através do fumo do rifle -, e deitaste-o ao chão. Abriguem-se! Todos, depressa! já outro artilheiro agarrara no bota-fogo.
Meteram-se todos atrás das rochas e estremeceram quando a granada explodiu em cheio num grande rochedo. Sharpe dava palmadas nas costas de Hagman.
- Foi incrível, Dan!
- Eu apontei-lhe ao peito, meu Tenente.
- Estragaste-lhe o dia, Dan - disse Harper. - Estragaste o dia ao raio do sapo.
Os outros fuzileiros congratulavam também Hagman. Tinham orgulho nele, contentes por verem o velho de novo de pé e em boa forma. O tiro, em certa medida, compensava a traição de Williamson. Eram de novo uma elite, eram fuzileiros.
- Posso tentar outra vez, meu Tenente? - perguntou Hagman.
- Porque não? - disse Sharpe.
Se tivessem trazido um morteiro, os municiadores iam ficar cheios de medo, quando descobrissem que se encontravam ao alcance dos rifles mortíferos.
Hagman. recomeçara o laborioso processo de carregar o rifle, mas mal tinha enrolado a bala no Pedaço de couro quando, para espanto de Sharpe, o obus foi içado para a carreta e a arma arrastada para o meio das árvores. Por um momento, Sharpe exultou, depois, porém, receou que os franceses estivessem, muito simplesmente, a retirar o obus para instalarem o morteiro no pedaço de terreno já limpo e nivelado. Esperou com um sentimento de terror, mas nenhum morteiro apareceu. Ninguém apareceu. Até mesmo os soldados de infantaria que tinham sido postados junto do obus se tinham retirado para o meio das árvores. Pela primeira vez desde que Sharpe retirara para a torre de vigia, a encosta norte estava deserta. Os dragões continuavam a patrulhar a leste e a oeste, mas meia hora depois também eles rodaram a norte, para os lados da aldeia.
- O que é que está a acontecer? - perguntou Vicente.
- Só Deus sabe.
Depois, subitamente, Sharpe viu toda a força francesa, a peça, a cavalaria e a infantaria, tudo a retirar-se pela estrada que saía de Vila Real de Zedes. Pareciam estar a regressar ao Porto e Sharpe olhava, boquiaberto, não ousando acreditar no que via.
- É um estratagema - disse Sharpe -, tem de ser um estratagema. Passou o óculo a Vicente.
- Talvez seja a paz - sugeriu Vicente, depois de olhar para os franceses em retirada. - Talvez tenham, de facto, terminado os combates. Não vejo outra razão para eles partirem.
- Eles vão-se embora, meu Tenente - disse Harper - e isso é que interessa. Vicente passara-lhe o óculo e Harper pôde ver uma carroça carregada de feridos,
- Jesus, Maria e José - exclamou ele, exultante -, eles vão-se mesmo embora!
Mas porquê? Haveria paz? Teriam os cavaleiros, que Sharpe receava que tivessem trazido um morteiro, trazido, em vez disso, uma mensagem? A ordem de retirar? Ou seria um engodo? Pensariam os franceses que ele ia descer à aldeia, proporcionando aos dragões a oportunidade de o atacarem em terreno aberto e plano? Estava confundido como nunca.
- Eu vou lá abaixo - disse ele. - Eu, Cooper, Harris, Perkins, Cresacre e Sims,
Escolhera deliberadamente os dois últimos por serem amigos de Williamson e os mais capazes de lhe seguirem o exemplo e, por isso, pretendia dar-lhes a entender que ainda confiava neles.
- Os restantes ficam cá em cima.
- Eu gostava de ir também - disse Vicente que, vendo que Sharpe se preparava para recusar, explicou: - É a aldeia, Sharpe, eu quero ver a aldeia. Quero ver o que aconteceu à minha gente.
Vicente, tal como Sharpe, levou cinco homens com ele. O sargento Harper e o sargento Macedo assumiram o comando no topo da montanha e a patrulha desceu a encosta. Passaram pela plataforma, em leque, toda chamuscada e que indicava o sítio donde o obus fora disparado. Sharpe quase esperou uma descarga a irromper da mata, mas não soou nenhuma arma e logo se viu à sombra das árvores. Ele ia à frente com Cooper, avançando sorrateiramente, atentos a uma emboscada no meio dos loureiros, dos vidoeiros e dos carvalhos, mas não foram perturbados. Seguiram pela vereda da Quinta, cuja casa tinha as persianas fechadas e parecia intacta. Um gato listado estava a lamber-se nas lajes quentes do portão das cocheiras e interrompeu a tarefa para olhar indignado para os soldados, voltando depois às suas abluções. Sharpe experimentou a porta da cozinha, mas estava fechada. Pensou em arrombá-la, mas depois decidiu largar a porta e levou os homens para a parte da frente da casa. A porta da frente estava também fechada e o caminho deserto. Recuou lentamente, olhos postos nas persianas, quase à espera de as ver abrir e soltarem uma descarga de mosquetes. A casa, porém, dormia no ambiente cálido do início da tarde.
- Acho que está vazia, meu Tenente - disse Harris, embora com um ar nervoso.
- Acho que tens razão - concordou Sharpe, voltando-se e avançando pelo caminho.
O cascalho rangia-lhe sob as botas e, por isso, afastou-se para a berma e indicou aos homens que fizessem o mesmo. O dia estava quente e quedo, até os pássaros estavam silenciosos.
E foi então que sentiu o cheiro. Pensou de imediato na índia e, por um instante terrível, imaginou mesmo que estava de volta a esse país misterioso, pois fora lá que sentira tantas vezes aquele cheiro. Era um cheiro espesso, enjoativo e, em certa medida, adocicado. Um cheiro que quase lhe deu vontade de vomitar, depois a premência passou, mas viu que Perkins, quase tão novo como Pendleton, estava com cara de enjoado.
- Respira fundo - disse-lhe Sharpe. - Vais precisar disso.
Vicente, com um ar tão enjoado como o de Perkins, olhou para Sharpe. Este cheiro é... - começou ele.
- É, sim - disse Sharpe. Era o cheiro da morte.
Vila Real de Zedes nunca fora uma grande aldeia, nem uma povoação muito conhecida. Não iam lá peregrinos orar na igreja. São José era ali venerado, mas a sua influência não ultrapassava os vinhedos. Contudo, apesar da sua insignificância, era uma boa aldeia para ver crescer os filhos. Havia sempre trabalho nas vinhas dos Savages, o solo era fértil e mesmo as casas mais pobres dispunham de uma horta. Alguns dos aldeãos possuíam vacas, a maior parte deles tinham galinhas e uns poucos engordavam o seu porco, embora não restasse, agora, nenhum gado. Pouca era a autoridade a atormentar os aldeãos. O padre José tinha sido a pessoa mais importante de Vila Real de Zedes, para além dos ingleses da Quinta, e o pároco às vezes zangava-se, mas, por outro lado, ensinava as primeiras letras às crianças. E fora sempre generoso.
E, agora, estava morto. O seu cadáver, irreconhecível, estava no meio das cinzas da igreja, onde outros corpos, reduzidos pelo calor das chamas, jaziam no meio do madeiramento derrocado e carbonizado. No meio da rua estava um cão morto, um fio de sangue seco a sair-lhe da boca, uma nuvem de moscas a esvoaçarem por cima de uma ferida num dos flancos. As moscas zumbiam também no interior da maior das duas tabernas. Sharpe empurrou a porta com a coronha do rifle e teve um estremecimento involuntário. Maria, a rapariga de quem Harper gostava, estava estendida, nua, em cima da única mesa inteira do compartimento principal da taberna. Tinha sido pregada à mesa com facas espetadas nas palmas das mãos e as moscas percorriam-lhe agora a barriga e os seios feridos. Todos os pipos de vinho tinham sido desfeitos, todos os potes feitos em cacos e todas as peças de mobília, com excepção da única mesa, escavacadas. Sharpe pôs o rifle ao ombro e puxou as facas das mãos de Maria, de modo que os braços brancos esvoaçaram, quando as lâminas se libertaram. Perkins, à porta da taberna, olhava horrorizado.
- Não fiques aí parado - atirou-lhe Sharpe -, arranja uma manta, qualquer coisa para a tapar.
- Sim, meu Tenente.
Sharpe voltou para a rua. Vicente tinha lágrimas nos olhos. Havia corpos em meia-dúzia de casas, sangue em todas elas, mas não havia gente nenhuma, Os sobreviventes de Vila Real de Zedes, se os havia, deviam ter fugido da aldeia, perante a brutalidade sanguinária dos invasores.
- Devíamos ter cá ficado - disse Vicente, indignado.
- Para morrermos como eles? - perguntou Sharpe.
- Eles não tinham ninguém que os defendesse - disse Vicente.
- Tinham o Manuel Lopes - disse Sharpe - que não sabia combater e que, se soubesse, tão-pouco cá teria ficado. E, se nós os tivéssemos defendido, estaríamos mortos e eles estavam tão mortos como estão.
- Devíamos ter cá ficado - insistiu Vicente. Sharpe desistiu.
- Cooper! Sims!
Os dois homens armaram os cães dos rifles. Cooper disparou primeiro, Sharpe contou até dez, Sims, então, puxou o gatilho, Sharpe tornou a contar até dez e foi a vez dele atirar para o ar. Era o sinal para indicar a Harper que podia descer do cume com os outros.
- Arranje pás - disse Sharpe a Vicente.
- Pás?
- Sim, vamos enterrá-los.
O cemitério era um espaço murado ao norte da aldeia, onde havia um pequeno barracão com pás de coveiro que Sharpe distribuiu pelos homens.
- Suficientemente fundas para os animais não os escavarem - disse ele mas não muito fundas.
Não muito fundas? - perguntou Vicente, empertigado, considerando que covas pouco fundas eram um insulto grosseiro aos mortos.
- Sim, porque os aldeãos vão voltar - disse Sharpe - e desenterrá-los para encontrarem os Parentes.
Encontrou um monte de serapilheira no barracão e utilizou-a para recolher os corpos carbonizados da igreja, levando-os um a um para o cemi-tério. O braço esquerdo do padre José soltou-se do corpo, quando Sharpe tentava retirá-lo da cruz carbonizada, e Sims, vendo o que acontecia, foi ajudar a embrulhar na serapilheira o corpo negro e encolhido.
- Eu levo-o, meu Tenente - disse Sims, agarrando na serapilheira.
- Não és obrigado a fazê-lo.
Sims parecia embaraçado.
- Nós não vamos desertar, meu Tenente - deixou ele escapar, parecendo depois receoso, como se esperasse a reacção dura da língua de Sharpe. Sharpe olhou para ele e viu outro ladrão, outro bêbado, outro falhado, outro atirador. Depois sorriu.
- Obrigado, Sims. Diz a Pat Harper para te dar um pouco da água benta dele.
- Água benta? - perguntou Sims.
- Sim, é o brandy que ele tem no segundo cantil. O brandy que ele julga que eu não sei que ele traz.
Mais tarde, quando já os homens que haviam descido da montanha ajudavam a enterrar os mortos, Sharpe voltou à igreja e foi lá que Harper o encontrou.
- As sentinelas estão a postos, meu Tenente.
- Muito bem.
- E Sims disse-me que eu tinha de lhe dar brandy.
- Espero que lho tenha dado.
- Dei, sim, meu Tenente. E o tenente Vicente, meu Tenente, quer dizer umas orações.
- Espero que Deus as oiça.
- E o meu Tenente quer lá ir?
- Não, Pat, não quero.
- Foi o que eu pensei, meu Tenente.
O irlandês abriu caminho por entre as cinzas. No local onde fora o altar, as cinzas ainda fumegavam, mas ele meteu a mão no meio dos resíduos e retirou de lá um crucifixo negro e torcido, com uns dez centímetros de comprimento. Harper depositou-o na palma da mão e fez o sinal da cruz.
- O tenente Vicente não anda nada satisfeito, meu Tenente.
- Eu sei.
- Ele acha que devíamos ter ficado a defender a aldeia, mas eu disse-lhe, meu Tenente, eu disse-lhe que não se apanham coelhos matando o cão.
Sharpe fixou o olhar no fumo.
- Talvez devêssemos ter ficado.
- A falar assim, até parece um irlandês, meu Tenente - disse Harper porque não há nada que a gente não saiba a respeito de causas perdidas. Certamente, estaríamos agora todos mortos. E se vir a guarda do gatilho do rifle de Gataker solta, não grite com ele por causa disso. Os parafusos gastaram-se com o uso.
Sharpe sorriu, perante o esforço de Harper para mudar de assunto.
- Eu sei que fizemos o que devíamos, Pat. Quem me dera que o tenente Vicente o compreendesse.
- Ele é advogado, meu Tenente, por isso não consegue ver bem as coisas. E é muito jovem, era capaz de vender a vaca por um gole de leite.
- Nós fizemos o que devíamos - insistiu Sharpe -, mas o que é que vamos fazer agora?
Harper tentava endireitar o crucifixo.
- Quando era criança - disse ele -, uma vez perdi-me. Devia ter os meus sete, oito anos. Mais pequeno do que Perkins, de qualquer modo. Havia soldados perto da aldeia, com o vosso uniforme vermelho. Ainda hoje não sei o que lá andavam a fazer, mas o certo é que eu fugi deles. Não me perseguiam, mas fugi na mesma, porque era isso que nós fazíamos quando os sacanas apareciam. Corri, corri, corri até não saber onde raio estava.
- E o que é que você fez?
- Segui um ribeiro - disse Harper. - Fui parar ao pé de duas casinhas, a minha tia vivia numa delas e levou-me a casa.
Sharpe pôs-se a rir e, embora a história não fosse para rir, não conseguiu conter-se.
- Maire, era a minha tia Maire, que tenha a alma em descanso - disse Harper, guardando o crucifixo no bolso.
- Bem gostava que a sua tia Maire aqui estivesse, Pat, mas nós não estamos perdidos.
- Acha que não?
- Nós vamos meter a sul. Encontramos um barco, atravessamos o rio e continuamos para sul.
- E se o exército já não estiver em Lisboa?
- Continuamos até Gibraltar - respondeu Sharpe, sabendo que isso nunca iria acontecer.
Se houvesse paz, iria encontrar alguém com autoridade para o mandar seguir para o porto mais próximo e, se houvesse guerra, então ia encontrar alguém com quem se bater. Era, na verdade, muito simples, pensava ele.
- Mas vamos de noite, Pat.
- Portanto, acha que continuamos em guerra?
- Ah, sim, continuamos em guerra, Pat - disse Sharpe, olhando para os destroços e a pensar em Christopher -, continuamos metidos num raio de uma guerra.
Vicente estava a olhar para as campas. Fez que sim com a cabeça, quando Sharpe lhe disse que pretendia seguir para sul, mas só falou depois de terem saído do cemitério.
- Eu vou para o Porto - disse ele.
- Acha que houve um acordo de paz?
- Não - disse Vicente, encolhendo depois os ombros. - Talvez, não sei. Mas acho que o coronel Christopher e o brigadeiro Vuillard estão, muito provavel-mente lá e, já que não os combati aqui, vou persegui-los lá.
- Vai, portanto, para o Porto - disse Sharpe - para morrer lá?
- Talvez - disse Vicente, nobremente -, mas um homem não pode esconder-se do diabo.
- Não, não pode - disse Sharpe -, mas se se bate com ele, deve fazê-lo de maneira inteligente.
- Eu ando a aprender a combater - disse Vicente -, mas já sei matar. Aquilo era uma receita de suicídio, pensou Sharpe, mas decidiu não argumentar.
- O que eu pretendo fazer - optou ele por dizer - é seguir o caminho por onde viemos. Facilmente me oriento por ele e, quando chegar a Barca de Avintes, vou procurar um barco. Há-de haver lá qualquer coisa que flutue.
- Certamente que há.
- Por isso, venha comigo até lá - sugeriu Sharpe -, pois fica muito perto do Porto.
Vicente concordou e, assim, os seus homens seguiram os de Sharpe, quando eles partiram da aldeia. Sharpe regozijou-se com isso, pois a noite estava de novo escura como breu e, apesar de estar convencido de que conseguiria orientar-se, ter-se-ia perdido se Vicente não estivesse com ele. Com a noite que estava, progrediram muito devagar, descansando a meio da noite e prosseguindo quando os primeiros raios de luz começaram a surgir no horizonte.
A mente de Sharpe balançava entre dois pensamentos, quanto a dirigir-se a Barca de Avintes. Era um risco, porque a aldeia ficava perigosamente próxima do Porto, mas, por outro lado, sabia que era um local onde era seguro atravessar o rio e esperava encontrar destroços das cabanas e das casas com que os homens pudessem construir uma jangada. Vicente concordava com ele, afirmando que a maior parte do vale do Douro eram ravinas rochosas e que Sharpe teria grande dificuldade, quer em aproximar-se do rio, quer em encontrar um local para atravessar. Um risco maior era os franceses estarem de guarda em Barca de Avintes, mas Sharpe desconfiava que eles se tinham dado por satisfeitos por terem destruído todos os barcos da aldeia.
À alvorada, encontravam-se numas colinas arborizadas. Pararam junto a um riacho e fizeram uma refeição de pão duro e de carne fumada tão rija que os homens falavam em reparar as botas com ela, depois resmungando porque Sharpe não lhes permitiu acender uma fogueira para fazerem chá. Sharpe levou um pedaço de pão para o cimo de uma colina e perscrutou os arredores com o pequeno óculo. Não enxergou inimigos e, em boa verdade, não viu ninguém. Via-se uma casa deserta um pouco mais acima no vale onde corria o riacho e avistava-se a torre de uma igreja a uns dois quilómetros mais a sul, mas não se via vivalma. Vicente foi junto dele.
- Acha que pode haver franceses por aqui?
- Eu penso isso sempre - disse Sharpe.
- E acha que os ingleses se foram embora? - perguntou Vicente.
- Não, acho que não.
- Porque não?
Sharpe encolheu os ombros.
- Se nos quiséssemos ir embora - disse ele -, teríamos ido aquando da retirada de Sir John Moore.
Vicente olhou para sul.
- Eu sei que não podíamos ter defendido a aldeia - disse ele.
- E eu bem gostaria de o ter podido fazer.
- Acontece é que é a minha gente - disse Vicente.
- Eu sei.
Sharpe tentou imaginar os franceses nos vales do Yorkshire ou nas ruas de Londres. Tentou imaginar as casas a arderem, os botequins a serem saqueados e as mulheres a gritarem, mas não conseguiu encarar esse horror. Parecia-lhe absolutamente impossível. Harper conseguia, certamente, imaginar a casa dele a ser violada, possivelmente podia até recordar isso, mas Sharpe não.
- Porque é que eles procedem assim? - perguntou Vicente, num tom genuinamente angustiado.
Sharpe guardou o óculo e pôs-se a escarvar a terra com a biqueira da bota direita. No dia seguinte à escalada para a torre de vigia, tinha secado as botas encharcadas a uma fogueira, mas chegara-as demasiado ao lume e o couro estalara.
- Na guerra não há regras - disse ele, incomodado.
- Há regras, sim senhor - insistiu Vicente.
Sharpe ignorou o protesto.
- A maior parte dos soldados não são nenhuns santos. São bêbados, ladrões, patifes. Falharam em tudo, por isso alistam-se no exército, ou são forçados a alistarem-se por um sacana qualquer de um magistrado. Depois dão-lhes uma arma e dizem-lhes para matar. Se o fizessem na pátria, eram enforcados, mas no exército são felicitados por isso e, se não se tem mão neles, eles acham que podem matar toda a gente. Aqueles ali - disse ele, apontando com a cabeça os homens agrupados debaixo dos carvalhos - sabem que serão punidos, se não se portarem na linha. Mas, se eu lhes desse rédea solta, destruíam este país num instante, depois destroçavam a Espanha e só paravam quando os matassem. - Fez uma pausa, apercebendo-se de que não estava a ser justo com os homens. - Não me interprete mal - acrescentou -, eu gosto deles. Não são dos piores, são apenas homens sem sorte e muito bons soldados. Eu não sei bem - Sharpe franziu o sobrolho, embaraçado -, mas acho que os Sapos não têm opção, posto que são mobilizados. Um desgraçado qualquer está, um dia, a trabalhar como padeiro, ou como abegão e, no dia seguinte, está de uniforme vestido e a marchar para meio continente de distância. Eles ressentem-se isso e os Sapos não chicoteiam os soldados, de modo que não têm maneira de os refrear.
- Vocês chicoteiam?
- Eu não.
Pensou em dizer a Vicente que fora chicoteado uma vez, havia muito tempo, na parada escaldante de um quartel, na índia, mas depois decidiu que podia soar a presunção.
- Eu levo-os atrás de um muro e dou-lhes uma sova - optou ele por dizer. - É mais rápido.
Vicente sorriu.
- Eu não era capaz de fazer isso.
- Em vez disso podia entregar-lhes uma intimação - disse Sharpe. - Eu preferia uma sova a ser metido em sarilhos por um advogado.
Talvez, pensou ele, se tivesse dado uma sova a Williamson o homem se tivesse submetido à sua autoridade. Ou talvez não.
- A que distância estaremos do rio? - perguntou ele.
- A umas três horas, não muito mais.
- Bem, não nos convém nada ficar aqui, é melhor pormo-nos a andar.
- E os franceses? - perguntou Vicente.
- Não há sinal deles, nem aqui, nem além - disse Sharpe, apontando para sul. - Não há fumo, não vejo pássaros a fugir das árvores. E consegue-se cheirar um dragão francês a uma légua de distância. Os cavalos deles estão todos feridos das selas e largam um fedor como uma fossa.
Retomaram, pois, a marcha. A erva ainda tinha orvalho. Passaram por uma aldeia deserta que parecia intacta e Sharpe desconfiou que os habitantes os tinham avistado e se tinham escondido. Havia decerto gente ali, pois via-se roupa estendida nos loureiros, mas, embora o sargento Macedo se pusesse a berrar que eram amigos, ninguém ousou aparecer. Uma das peças de roupa era uma bela camisa de homem com botões de osso e Sharpe viu Cresacre atrasar-se como quem quer aliviar-se.
- O castigo para o roubo - gritou Sharpe para os seus homens - é a forca numa destas árvores.
Cresacre fingiu que não tinha ouvido, mas tratou de despachar-se. Pararam quando atingiram o Douro. Barca de Avintes ficava ainda um pouco para oeste. Sharpe sabia que os homens estavam cansados, por isso acamparam numa mata, numa encosta escarpada, sobranceira ao rio. Não se viam barcos por ali. Lá longe, para sul, pairava no céu uma única espiral de fumo e, para oeste, havia uma névoa tremeluzente que Sharpe supôs ser fumo expelido pelas cozinhas do Porto. Vicente disse que Barca de Avintes não estaria a mais de uma hora de marcha, mas Sharpe decidiu que iriam esperar pela manhã seguinte. Meia-dúzia de homens andavam a coxear, porque as botas estavam rotas e Gataker, que tinha sido ferido na anca, estava a sentir dores. Um dos homens de Vicente caminhava descalço e Sharpe andava a pensar fazer o mesmo, dado o estado das suas botas. Havia, porém, outra razão para a paragem.
- Se os franceses andarem por aí - explicou Sharpe -, prefiro tentar escapar-lhes de madrugada. E, se não estiverem por aqui, ficamos com o dia todo para construir uma jangada.
- E quanto a nós? - perguntou Vicente.
- Ainda quer ir para o Porto?
- O nosso regimento é de lá - disse Vicente. - É a nossa casa. Os homens estão ansiosos. Alguns têm lá a família.
- Leve-nos até Barca de Avintes - sugeriu Sharpe - e depois vá para casa. Mas percorra os últimos quilómetros devagar, com toda a cautela, e tudo correrá bem.
Ele não acreditava nisso, mas não lhe podia dizer o que pensava. Descansaram, pois. As sentinelas faziam a guarda na extremidade da mata, enquanto os outros dormiam e, pouco depois do meio-dia, quando o calor tornava todos sonolentos, Sharpe pareceu-lhe ter ouvido um trovão ao longe, mas não havia nuvens de chuva à vista, o que queria dizer que o estrondo só podia ser de uma arma de fogo, mas não tinha a certeza. Harper estava a dormir e Sharpe interrogou-se se não estaria apenas a ouvir o eco do ressonar do irlandês. Depois, porém, tornou a ouvir o estrondo, embora tão fraco que até o podia ter imaginado. Sharpe abanou Harper.
- O que foi?
- Estou a tentar ouvir - disse Sharpe.
- E eu estou a tentar dormir.
- Ouça!
Mas houve apenas silêncio, quebrado tão-só pelo murmúrio do rio e pelo agitar das folhas ao vento.
Sharpe pensou em ir com uma patrulha de reconhecimento até Barca de Avintes, mas decidiu que não. Não quis dividir a sua já perigosamente pequena força e, fossem quais fossem os perigos que os aguardavam na aldeia, podiam esperar pela manhã seguinte. Ao cair da noite pareceu-lhe tornar a ouvir o estrondo, mas depois soprou o vento e levou com ele o som.
O romper do dia foi silencioso e quedo. O rio, ligeiramente coberto pela neblina, parecia polido como aço. Luís, que se juntara aos homens de Vicente, revelou-se um bom sapateiro e remendara algumas das botas mais decrépitas. Tinha-se oferecido para barbear Sharpe, mas este abanara a cabeça.
- Só faço a barba do lado de lá do rio - dissera Sharpe.
Partiram, então, seguindo uma vereda que serpenteava no terreno acidentado. A vereda era dura, cheia de vegetação e esburacada. Caminharam muito devagar, mas não viram inimigos. O terreno, depois, foi ficando mais plano, a vereda tornou-se um caminho, que ladeava vinhedos e apareceu Barca de Avintes à frente deles, as paredes brancas a luzirem ao Sol nascente.
Não havia franceses na aldeia. Alguns dos habitantes tinham regressado às casas pilhadas e pareciam alarmados com os rufiões de uniformes esfarrapados que surgiam pela ponte sobre o pequeno riacho, mas Vicente sossegou-os. Não havia barcos, disseram eles, os franceses tinham levado ou queimado todos. Raramente viam os franceses, acrescentaram. Às vezes, aparecia uma patrulha de dragões, a ressoar pela aldeia. Punham-se a observar a outra margem do rio, roubavam comida e iam-se embora. Pouco mais notícias tinham. Uma mulher, que vendia azeite, ovos e peixe fumado no mercado do Porto, disse-lhes que os franceses guarneciam com sentinelas toda a margem norte do rio, desde a cidade até ao mar, mas Sharpe não deu grande importância às palavras dela. O marido, porém, um gigante meio curvado, de mãos calosas, cautamente concordou que talvez fosse possível fazer uma jangada com a mobília partida que havia na aldeia.
Sharpe colocou sentinelas no extremo oeste da aldeia, onde Hagman tinha sido ferido. Subiu aí a uma árvore e ficou surpreendido por enxergar edifícios do Porto recortados no horizonte montanhoso. O grande edifício branco, de telhado plano, por onde se recordava de ter passado, quando encontrara e conhecera Vicente, era o mais visível e ficou espantado de se encontrarem tão perto. Não estava a mais de uma légua do grande edifício branco e os franceses tinham, certamente, piquetes naquela colina. E, ainda mais certamente, disporiam de um óculo lá em cima, para observarem os arredores da cidade. Estava, contudo, disposto a atravessar o rio ali, por isso desceu da árvore e estava a sacudir a casaca quando um jovem de cabelo desgrenhado e roupa esfarrapada se pôs a mugir para ele. Sharpe olhou atónito para o rapaz. O jovem tornou a mugir, depois fez uma careta, antes de soltar um arremedo de risada. Tinha o cabelo ruivo sujo de terra, olhos azul-claros e uma boca descaída e cheia de baba. Sharpe compreendeu que se tratava de um idiota, provavelmente inofensivo, lembrando-se de Ronnie, um idiota de uma aldeia do Yorkshire, cujos pais o prendiam ao tronco de um ulmeiro, no prado da aldeia, onde Ronnie se punha a berrar para as vacas que ali pastavam, falando com ele próprio e rosnando às raparigas. Este era muito parecido, mas era também impertinente, agarrando no cotovelo de Sharpe e tentando levar o inglês para os lados do rio.
- Arranjou um amigo, meu Tenente? - perguntou Tongue, todo divertido.
- Ele é um grande maçador, meu Tenente - disse Perkins.
- Mas não lhe quer fazer mal - disse Tongue -, ele quer é levá-lo a dar um mergulho, meu Tenente.
Sharpe libertou-se da mão do idiota.
- Como é que te chamas - perguntou-lhe Sharpe, depois compreendendo que de pouco valia falar em inglês a um doido português.
O idiota, porém, agradado por alguém falar com ele algaraviou perdida-mente, rindo e balançando num e noutro pé. Depois, agarrou de novo no cotovelo de Sharpe.
- Vou chamar-te Ronnie - disse Sharpe. - E o que é que tu queres? Os homens agora riam-se, mas Sharpe, de todo o modo, pretendia ir à margem do rio observar o género de corrente que a jangada teria de enfrentar e, por isso, deixou-se arrastar por Ronnie. O idiota foi todo o caminho a falar, mas nada do que dizia fazia sentido. Levou Sharpe para a margem do rio e, quando Sharpe tentou sacudir a garra, surpreendentemente forte, Ronnie abanou a cabeça e empurrou Sharpe para debaixo de uns choupos, bem para o interior dos arbustos, onde, então, largou finalmente o braço de Sharpe, batendo palmas.
- Não és, afinal, tão idiota quanto isso - disse Sharpe. - Na verdade, Ronnie, tu és um génio.
Havia ali um barco. Sharpe vira uma barca a ser queimada e afundada, quando ali estivera antes, mas agora apercebia-se de que devia haver duas barcas e aquela era a segunda. Era um barco chato, largo e mal-acabado, o género de barco para transportar um pequeno rebanho de ovelhas, ou mesmo uma carruagem e seus cavalos. Tinham-lhe metido pedras dentro e afundado no riacho que corria sob as árvores, formando com ele uma espécie de tanque. Sharpe pôs-se a pensar porque é que os aldeãos não lhe tinham falado no barco e concluiu que eles temiam todo o género de soldados e, por isso, tinham escondido o seu barco mais valioso até regressarem os tempos de paz. Os franceses tinham destruído todos os outros barcos e nem sequer imaginavam que aquela segunda barca ainda existia.
- És um grande génio - disse outra vez Sharpe a Ronnie, dando-lhe o resto do pão, que era o único presente de que dispunha.
Mas tinha um barco.
E tinha mais alguma coisa, pois o trovão que ele ouvira à distância soou outra vez. Só que, desta vez, soou mais próximo, não deixou dúvida nenhuma, não era nenhum trovão e Christopher tinha mentido e não havia paz nenhuma em Portugal.
Era um tiro de canhão.
O som dos tiros vinha de Oeste, canalizado pelo vale ladeado de escarpas do rio, e Sharpe não conseguia perceber se a batalha se desenrolava na margem norte ou na margem sul do Douro. Nem sequer sabia se se tratava de uma batalha.
Podia ser que os franceses, para protegerem a cidade do lado do mar, tivessem instalado baterias na costa e estas estivessem tão-só a disparar para fragatas demasiado curiosas, ou talvez apenas a praticar tiro. Uma coisa, porém, era óbvia: nunca conseguiria saber do que se tratava, a menos que se aproximasse mais.
Correu para a aldeia, seguido pelo cambaleante Ronnie, o qual berrava inarticuladamente ao mundo a sua façanha.
Sharpe procurou Vicente.
- Temos cá uma barca, foi ele que ma indicou - disse Sharpe, apontando para Ronnie.
- E as peças? - perguntou Vicente, confundido.
- Vamos descobrir o que estão a fazer - disse Sharpe -, mas diga aos aldeãos para erguerem a barca, pois podemos precisar dela. E, agora, vamos para a cidade.
- Todos nós? - perguntou Vicente.
- Sim, todos nós, mas diga-lhes que eu quero aquela barca a flutuar a meio da manhã.
A mãe de Ronnie, uma mulher curvada e a tremer, vestida de preto, puxou o filho da beira de Sharpe e pôs-se a repreendê-lo numa voz estridente. Sharpe deu-lhe o último pedaço de queijo da sacola de Harper, explicou-lhe que Ronnie era um herói e, depois, conduziu o seu grupo heterogéneo para oeste, pela margem do rio.
Havia muita cobertura. Pomares, olivais, redis cobertos, pequenos vinhedos, tudo apertado na pequena faixa de terreno plano da margem norte do Douro. Os canhões, ocultos pela cumeada da grande colina onde se erguia o edifício de telhado plano, disparavam esporadicamente. O fogo subia para uma intensidade de batalha, para depois se esvanecer. Durante alguns minutos, não havia tiros, ou apenas uma peça disparava, o tiro ecoando nas colinas a sul, repercutindo-se nas escarpas a norte e ressaltando rio abaixo.
- Talvez devêssemos ir para o seminário - sugeriu Vicente, indicando o grande edifício branco.
- Os Sapos devem lá estar - disse Sharpe.
Estava agachado junto a uma cerca e, por qualquer razão, falava baixinho. Parecia extraordinário que não se vissem sentinelas francesas, nem uma única, mas ele tinha a certeza de que os franceses deviam ter homens no grande edifício, o qual dominava o rio a leste da cidade, tal castelo.
- O que é que disse que aquilo era?
- Um seminário. - Vicente percebeu que Sharpe ficara confundido. É uma casa onde os padres são educados. Eu, em tempos, pensei em ser padre.
- Santo Deus! - exclamou Sharpe, surpreendido. - Queria ser padre?
- Não, só pensei nisso - disse Vicente, defensivo. - Porque, não gosta de padres?
- Nem por isso.
- Então, ainda bem que sou advogado - disse Vicente, com um sorriso.
- Você não é nenhum advogado, Jorge - disse Sharpe -, você é um soldado, como todos nós.
Depois daquele cumprimento, voltou-se e verificou que todos os homens já haviam atravessado o pequeno prado e se encontravam agachados junto à cerca.
Se os franceses tinham homens no seminário, pensou ele, ou estavam todos a dormir, ou, mais provavelmente, tinham avistado uniformes azuis e verdes e tinham-nos confundido com as suas próprias casacas. Teriam confun-dido o azul dos portugueses com o deles? O azul do uniforme dos portugueses era muito mais escuro do que o da infantaria francesa e o verde dos fuzileiros muito mais escuro que o dos dragões, mas, a uma certa distância, os uniformes podiam confundir-se.
Ou não haveria ninguém no edifício? Sharpe pegou no pequeno óculo e espreitou por ele durante bastante tempo. O seminário era enorme, um grande bloco branco, com quatro andares, e devia ter, pelo menos, umas noventa janelas, só na parede sul. Não conseguiu, contudo, enxergar nenhum movimento em qualquer delas, como tão-pouco avistou alguém no telhado plano, o qual tinha uma cimalha de tijoleira e constituía, sem sombra de dúvida, o melhor posto de observação a leste da cidade.
- Vamos para lá? - pressionou-o Vicente.
- Talvez - respondeu Sharpe, cauteloso.
Estava tentado, pois o edifício proporcionava uma bela vista sobre a cidade, mas continuava a não acreditar que os franceses não tivessem ocupado o seminário.
- Vamos continuar ao longo da margem do rio, por enquanto.
Pôs-se à frente dos seus fuzileiros. O verde das casacas deles era do tom das folhas, proporcionando-lhes uma pequena vantagem, se lhes aparecesse pela frente uma sentinela francesa, mas não viram ninguém. Sharpe tão-pouco viu actividade na margem sul, embora os canhões continuassem a disparar e, agora, distinguisse, por sobre a cumeada do seminário, uma nuvem de fumo de canhão, de um branco sujo, a ser empurrada para o vale do rio.
Havia, agora, mais edifícios, a maior parte casas pequenas, construídas junto ao rio, com quintais que eram uma confusão de sebes, de vinhas, de oliveiras que ocultavam os homens de Sharpe, na sua caminhada para oeste. Sobranceiro a Sharpe, à direita dele, o seminário erguia-se no céu como grande ameaça, com as janelas fechadas, mudas, escuras. Sharpe não conseguia libertar-se do medo de que uma horda de soldados franceses estivesse escondida por detrás daquela montanha de pedra e de vidro, a brilhar ao sol. Contudo, sempre que para lá olhava, não distinguia nenhum movimento.
Depois, de repente, apareceu-lhe à frente uma sentinela francesa. Sharpe dobrara a esquina de uma casa e ali estava o homem. Estava no meio de uma calçada escorregadia que ligava a oficina de um calafate ao rio, agachado, a brincar com um cãozito. Sharpe fez desesperadamente sinal aos seus homens para pararem. O inimigo era um soldado de infantaria, a uns cinco ou seis metros de distância, de costas para Sharpe, o quépi e o mosquete pousados no empedrado, deixando o cãozito morder-lhe a mão direita, na brincadeira.
Se havia ali um soldado francês, devia haver mais. Tinha de haver! Sharpe olhou para além do homem, para uns choupos e uns arbustos espessos na extremidade da calçada. Haveria por ali uma patrulha? Não viu sinais disso, nem nenhuma movimentação nos derruídos barracões do calafate.
O francês, então, ou ouviu o raspar de uma bota, ou sentiu que estava a ser observado, pois ergueu-se e voltou-se. Depois, vendo que tinha o mosquete ainda no chão, fez um gesto para o apanhar, detendo-se, porém, quando Sharpe lhe apontou o rifle à cara. Sharpe fez que não com a cabeça e, sacudindo o rifle para cima, deu-lhe a entender que devia endireitar-se. O homem obedeceu. Era um jovem, pouco mais velho do que Pendleton e Perkins, com uma cara redonda, sem malícia. Estava cheio de medo e deu um passo involuntário para trás, quando Sharpe avançou rapidamente para ele, e choramingando, quando Sharpe o agarrou pela casaca e o arrastou, dobrando a esquina. Sharpe, então, deitou-o ao chão, arrancou-lhe a baioneta do cinturão e atirou-a ao rio.
- Amarra-o - ordenou ele a Tongue.
- Corto-lhe o pescoço - sugeriu Tongue -, é mais fácil.
- Amarra-o - insistiu Sharpe - amordaça-o e faz isso bem feito. Sharpe fez sinal a Vicente para vir junto dele.
- Foi o único que vi.
- Tem de haver mais - declarou Vicente.
- Sabe Deus onde estarão.
Sharpe foi de novo à esquina, espreitou e não viu mais nada a não ser o cãozito, o qual estava agora a tentar puxar pela correia o mosquete do francês. Sharpe fez sinal a Harper para se juntar a ele.
- Não vejo ninguém - murmurou Sharpe.
- Ele não pode estar sozinho - disse Harper. Contudo, não se via ninguém
- Vamos para aquelas árvores, Pat - segredou Sharpe, apontando para além da calçada.
- Temos de correr como loucos, meu Tenente - disse Harper. Dispararam os dois a correr pelo espaço aberto e atiraram-se para as árvores. Não houve nenhum disparo de mosquete, ninguém gritou, mas o cãozito, pensando que se tratava de uma brincadeira, seguiu-os.
- Volta para a tua mãe - soprou Harper para o cão que se limitava a ladrar para ele.
- Meu Deus! - disse Sharpe, não por causa do ladrar do cão, mas porque estava a ver barcos.
Tudo levava a pensar que os franceses tivessem destruído ou apreendido os barcos todos ao longo do Douro, mas, em frente dele, varadas na margem lamacenta da maré baixa, numa curva do rio, estavam três grandes barcaças de transporte de vinho. Três barcaças! Quis saber se teriam sido esburacadas e, enquanto Harper sossegava o cão, meteu-se na lama pejada de juncos e içou-se para dentro de uma delas. Estava encoberto por árvores espessas da vista de alguém colocado na margem norte, talvez essa a razão por que os franceses não se tinham apercebido dos três barcos e, melhor do que isso, a barcaça para onde Sharpe saltara não estava danificada. Havia bastante água no fundo, mas, quando a provou, Sharpe verificou que era água doce, portanto, era água da chuva e não a água salgada que as marés, duas vezes por dia, faziam subir o Douro. Sharpe percorreu o porão alagado, chapinhando na água, não encon-trando rachas feitas à machadada. Subiu depois para uma coberta lateral onde viu seis remos compridos atados com uma corda esfiapada. Havia mesmo um pequeno bote, arrimado à popa, o casco para cima, com dois remos, descorados e rachados, meio metidos debaixo dele.
- Meu Tenente! - soprou Harper. - Meu Tenente!
Harper estava a apontar para o outro lado do rio, Sharpe olhou para a outra margem e avistou um uniforme vermelho. Um cavaleiro solitário, eviden-temente inglês, olhou também para ele. O homem tinha um tricórnio, era, portanto, um oficial, mas quando Sharpe acenou não retribuiu o aceno. Sharpe calculou que o homem estivesse confundido com o uniforme verde.
- Mande vir toda a gente para aqui, já! - ordenou Sharpe a Harper.
Tornou a olhar para o cavaleiro. Por um momento, pensou que era o coronel Christopher, mas aquele homem era mais pesado e o cavalo, como a maioria dos cavalos ingleses, tinha a cauda aparada, enquanto Christopher, imitando os franceses, não aparava a cauda do cavalo dele. O homem, que conservava o cavalo debaixo de uma árvore, voltou-se, parecendo falar com alguém, embora Sharpe não conseguisse ver mais ninguém na outra margem do rio. Depois, o homem tornou a olhar para Sharpe e apontou vigorosamente para os três barcos.
Sharpe hesitou. Era quase certo que o homem era de mais elevada patente do que ele e, se atravessasse o rio, ia ver-se sob a disciplina férrea do exército, perdendo a liberdade de agir segundo a sua vontade. Se mandasse um dos seus homens vinha a dar no mesmo, mas, então, lembrou-se de Luís e fez vir o barbeiro à sua presença, ajudando-o a subir para a barca.
- Sabe manejar um bote? - perguntou-lhe.
Luís ficou momentaneamente com um ar alarmado, mas, logo depois, disse que sim.
- Sei, sim senhor.
- Então, atravesse o rio e descubra o que o oficial inglês quer. Diga-lhe que estamos a averiguar o que se passa no seminário. E diga-lhe, também, que há outro barco em Barca de Avintes.
Sharpe pôs-se a pensar que os ingleses teriam avançado para norte e tinham sido travados pelo Douro. Concluiu que a canhonada eram as peças a dispararem umas contra as outras através do rio, mas, sem barcos, os ingleses estavam tramados. Onde raio estava a armada?
Harper, Macedo e Luís fizeram passar o bote por cima da amurada da barcaça, para a lama pegajosa do rio. A maré estava a subir, mas ainda ia levar algum tempo a atingir as barcaças. Luís agarrou nos remos, sentou-se no banco e, com admirável destreza, afastou-se da margem. Olhou por cima do ombro para ver a direcção e, depois, pôs-se a remar vigorosamente,
Sharpe viu outro cavaleiro aparecer atrás do primeiro, este segundo homem também de uniforme vermelho e de tricórnio preto, e começou a ver as peias do exército a aproximarem-se dele, de modo que saltou da barcaça abaixo e chapinhou pela lama até à margem.
- Você vai ficar aqui - ordenou ele a Vicente. - Eu vou espreitar a colina. Por um momento, Vicente parecia ir argumentar, mas, depois, aceitou o esquema e Sharpe fez sinal aos fuzileiros para o seguirem. Quando iam a meter-se no meio das árvores, Sharpe olhou para trás e viu que Luís estava quase a chegar à outra margem. Depois, Sharpe passou uns loureiros e viu a estrada em frente dele. Era a estrada por onde tinha escapado do Porto e, à esquerda, estavam as casas onde Vicente lhe tinha salvo a pele. Não viu nenhum francês. Fixou de novo os olhos no seminário, mas não havia por ali movimento nenhum. Que se lixe, pensou ele, vamos a isto.
Conduziu os homens em formação de emboscada, colina acima. A colina oferecia escassa cobertura. Umas tantas árvores dispersas e uma cabana derro-cada surgiam a meio caminho, mas, para além disso, era uma armadilha mortal, se houvesse soldados franceses no edifício. Sharpe sabia que devia ter tido mais cuidado, mas ninguém disparou das janelas e ninguém se lhe opôs. Acelerou o passo, de tal modo que começou a sentir dores nos músculos das pernas, dado que a colina era muito íngreme.
Depois, de repente, estava junto do seminário. O rés-do-chão tinha umas janelas pequenas, gradeadas, e sete portas em arco. Sharpe experimentou uma das portas, verificando que estava trancada e que era tão sólida que, quando lhe deu um pontapé, o único resultado foi ficar magoado. Agachou-se e aguardou que os retardatários chegassem. Via, para oeste, todo um vale que se estendia entre o seminário e a cidade, conseguindo enxergar, no topo da colina do Porto, as armas francesas que disparavam para a outra margem do rio, embora o alvo delas estivesse encoberto por uma montanha da margem sul. Um grande convento se erguia nessa montanha oculta, o mesmo, lembrava-se Sharpe, donde a artilharia portuguesa se digladiara com a francesa, no dia em que a cidade caíra.
- Já estão cá todos - disse-lhe Harper.
Sharpe seguiu ao longo da parede do seminário, construída com maciços blocos de pedra, dirigindo-se para oeste, para o lado da cidade. Quereria ir espreitar o outro lado, mas calculava que a frontaria do edifício devia estar de frente para o Porto. Todas as portas por onde passou estavam trancadas. Por que raio não havia ali soldados franceses? Não via ninguém, nem sequer na zona límítrofe da cidade, a cerca de um quilómetro. A parede, então, dobrou para a direita e Sharpe viu um lance de degraus que subiam para uma porta ornamentada. Não havia sentinelas a guardarem a entrada, embora ele agora, finalmente, visse soldados franceses. Havia um comboio de carroças na estrada do vale que se estendia a norte do seminário. As carroças, puxadas por bois, eram escoltadas por dragões. Sharpe utilizou o pequeno óculo de Christopher e verificou que as carroças iam cheias de feridos. Estaria Soult a evacuar os feridos para França? Ou estava, muito simplesmente, a esvaziar os hospitais, em vésperas de nova batalha? Não devia, certamente, estar a pensar em marchar sobre Lisboa, dado que os ingleses tinham vindo para o Norte, para junto do Douro, e esse facto fez Sharpe pensar que Sir Arthur Wellesley já devia ter chegado a Portugal e galvanizara as forças inglesas.
A frente do seminário tinha um ornato em cercadura, encimado por uma cruz de pedra, que tinha sido atingida por tiros de mosquete. A porta principal, para onde subiam os degraus, era de madeira, chapeada a ferro, e, quando Sharpe rodou o enorme e enferrujado puxador de ferro, ficou surpreendido, pois a porta não estava trancada. Escancarou a porta com a boca do rifle e viu um corredor vazio, lajeado, com as paredes pintadas de um verde desmaiado. O retrato de um santo esfomeado estava pendurado de esguelha numa das paredes, o corpo do santo esburacado à bala. A representação grosseira de uma mulher e de um soldado francês tinha sido rabiscada junto ao retrato do santo, revelando que os franceses tinham estado no seminário, embora não se visse agora ali nenhum. Sharpe entrou, as botas ecoando nas paredes.
- Jesus, Maria e José - disse Harper, fazendo o sinal da cruz. - Nunca vi um edifício tão grande! - Olhou espantado pelo corredor adiante e perguntou: - Como é que o raio de um país precisa de tantos padres?
- Tudo depende do número de pecadores - disse Sharpe. - Agora, toca a inspeccionar isto tudo.
Deixou um piquete de seis homens à entrada e, depois, desceu umas escadas para ir destrancar uma das portas que davam para o rio. Essa porta seria a sua escapatória, se os franceses aparecessem no seminário. Uma vez assegurada a retirada, examinou os dormitórios, as casas de banho, as cozinhas, o refeitório e as salas de aulas do vasto edifício. Havia mobília partida em todos os compartimentos e, na biblioteca, havia um milhar de livros espalhados e rasgados no soalho de madeira, mas não se via vivalma. A capela tinha sido arrombada, o altar desfeito em lenha e o coro utilizado como sanita.
- Cambada de cabrões - disse Harper baixinho.
Gataker, o guarda-mão do rifle a balançar, preso por um único parafuso, parou embasbacado diante de um desenho de duas mulheres, curiosamente agarradas a três dragões, que tinha sido garatujado na parede caiada de branco, onde anteriormente se encontrava um grande tríptico da Sagrada Família, por cima do altar.
- Gosto disto - dizia ele, no tom respeitoso que alguém usaria numa exposição da Royal Academy.
- Eu cá gosto delas um bocado mais cheias - disse Slattery.
- Toca a andar - rosnou Sharpe.
A tarefa mais urgente, agora, era encontrar a adega do seminário. Tinha a certeza de que devia haver uma adega, mas, quando finalmente a encontrou, verificou, com alívio, que os franceses já haviam passado por ali e que nada restava, a não ser garrafas partidas e barris vazios.
- Verdadeiros bárbaros! - exclamou Harper, profundamente sentido. Sharpe, porém, teria destruído ele próprio garrafas e barris, para evitar que os homens se embebedassem. E, ao pensar nisso, apercebeu-se de que, inconscien-temente, já decidira ficar ali, naquele enorme edifício, tanto tempo quanto pudesse. Os franceses queriam, sem sombra de dúvida, dominar o Porto, mas quem quer que fosse que ocupasse o seminário dominava o flanco oriental da cidade.
A longa fachada com as inúmeras janelas que davam para o rio era ilusória, pois o edifício era bastante estreito. Na frontaria, apenas uma dezena de janelas davam para o Porto, embora, na parte de trás, a mais afastada da cidade, houvesse uma comprida ala a estender-se para norte. No ângulo das duas alas, havia um jardim, onde um certo número de pereiras tinham sido cortadas para lenha. Os dois lados do jardim, não protegidos pelo edifício, estavam cercados por um alto muro de pedra, fendido por dois belos portões de ferro que davam para o Porto. Num barracão, escondido sob uma pilha de redes que serviam para afastar os pássaros das árvores de fruto, Sharpe descobriu uma picareta que entregou a Cooper.
- Abre aí umas seteiras - disse-lhe Sharpe, indicando-lhe o muro. Patrick! Veja se arranja mais ferramentas e destaque mais seis homens para ajudarem o Cooper. O resto dos homens vão para o telhado, mas que ninguém os veja. Compreende? Têm de ficar escondidos.
Sharpe dirigiu-se, então, para uma sala ampla que ele acreditava ter sido o gabinete do reitor do seminário. Tinha prateleiras como uma biblioteca e fora saqueada como o resto do edifício. Livros rasgados e arrancados das capas jaziam em pilhas no soalho, uma mesa enorme fora atirada contra uma parede e uma pintura a óleo de um clérigo com ar de santo, toda esfaqueada, estava metida na lareira, meia queimada.
Sharpe abriu a janela da sala, que ficava imediatamente por cima da porta de entrada do seminário, e, com o pequeno óculo, pôs-se a perscrutar a cidade, tentadoramente perto, do outro lado do vale. Depois, infringindo as suas próprias instruções de que toda a gente se devia esconder, debruçou-se no parapeito, tentando ver o que se passava na margem sul do rio, mas não conseguiu ver nada significativo e, então, estava ele ainda de pescoço todo torcido, estrondeou uma voz desconhecida atrás dele.
- Você deve ser o nosso tenente Sharpe. O meu nome é Walters, tenente-coronel Walters. Grande proeza, Sharpe, grande proeza.
Sharpe recolheu-se da janela e voltou-se, para ver um oficial de uniforme vermelho a caminhar pelo meio da confusão de livros e de papéis.
- O meu nome é, de facto, Sharpe, meu Coronel - confirmou ele.
- O raio dos Sapos andam a dormir - disse Walters. Era um homem robusto, de pernas arqueadas de muito montar a cavalo, com uma cara batida pelo tempo. Sharpe dar-lhe-ia uns quarenta anos, mas parecia mais velho por causa do cabelo grisalho. - Eles deviam ter aqui pelo menos um batalhão, não é verdade? Um batalhão e umas duas baterias de artilharia. Os nossos inimigos andam a dormir, Sharpe, andam mesmo a dormir.
- Foi o senhor que eu vi na outra margem do rio? - perguntou Sharpe.
- Exactamente o mesmo. O seu amigo português foi ter comigo. Homem esperto! Trouxe-me quando voltou e, agora, estamos a pôr aquelas barcaças a flutuar. - Walters sorriu. - Tarefa difícil, mas, se conseguirmos pôr o raio das barcaças a flutuar, vêm para aqui primeiro os Buffs; e, depois, o resto da 1ª Brigada. Gostava de ver a cara do marechal Soult, quando se aperceber de que lhe entrámos em casa pela porta das traseiras. Há por aí alguma coisa que se beba?
- Desapareceu tudo, meu Coronel.
- Muito bem, homem - disse Walters, deduzindo, erroneamente, que fora o próprio Sharpe quem eliminara a tentação, antes da chegada dos casacas-vermelhas.
Walters, então, dirigiu-se à janela e, tirando um grande óculo de uma bolsa de couro que lhe pendia do ombro, pôs-se a observar o Porto.
- Afinal, o que é que se passa, meu Coronel? - perguntou Sharpe.
- O que é que se passa? O que se passa é que estamos a correr com os Sapos de Portugal! Fora! Fora! Fora! E lá se vão os emproados sacanas. Olhe para ali! - disse-lhe Walters, apontando para a cidade. - Eles não fazem a mais pequena ideia de que estamos aqui! O seu amigo português disse-me que perdeu o contacto. É verdade, isso?
- Sim, meu Coronel. Perdi o contacto desde finais de Março.
- Oh, diabo! - exclamou Walters. - Então, não sabe de nada!
O coronel sentou-se no parapeito da janela e disse a Sharpe que Sir Arthur Wellesley já estava, de facto, em Portugal.
- Chegou há cerca de três semanas - disse Walters - e já meteu alguma alma nas tropas. Oh, se meteu! Cradock é um tipo bastante decente, mas não tem alma nenhuma. Portanto, estamos a avançar, Sharpe, esquerdo-direito, esquerdo-direito e estamos em cima deles. O exército britânico está além disse ele, indicando, pela janela, o terreno oculto pela montanha do convento, na margem sul do rio. - O raio dos Sapos parece que acham que vamos aparecer pelo mar, por isso têm os homens todos, ou na cidade, ou a guarnecerem o rio, entre a cidade e o mar.
Apossou-se de Sharpe um certo sentimento de culpa, por não ter acreditado no que a mulher de Barca de Avintes lhe dizia.
- Sir Arthur quer atravessar o rio - prosseguiu Walters - e o seu amigo foi providencial ao indicar-nos as três barcaças, mas você diz-me que há mais um barco?
- Há, sim, meu Coronel, aí a uma légua a montante.
- Você fez um trabalho nada mau esta manhã, Sharpe - disse Walters com um sorriso cordial. - Só temos que pedir uma coisa.
- Que os franceses não nos descubram aqui,
- Exactamente. Portanto, o melhor é tirar esta casaca-vermelha da janela - Walters riu-se, avançando para o meio da sala. - Esperemos que eles continuem a dormir e a sonharem os seus sonhos de sapo, porque, quando acordarem, vai ficar um calor danado. E quantos homens caberão em cada uma daquelas barcaças? Uns trinta? E só Deus sabe quanto tempo levará cada travessia. Podemos estar a meter a cabeça na boca do tigre, Sharpe.
Sharpe eximiu-se a comentar que tinha passado as últimas semanas com a cabeça metida na boca do tigre. Em vez disso, olhou ao longo do vale, tentando imaginar como se aproximariam os franceses, quando atacassem. Calculou que viessem directamente da cidade, através do vale, subindo a encosta pratica-mente sem cobertura nenhuma. O lado norte do seminário dava para a estrada do vale e a encosta desse lado era igualmente nua de cobertura, excepto por uma árvore solitária, de folhas pálidas, que se encontrava a meio da subida. Quem quer que atacasse o seminário ia, presumivelmente, tentar alcançar os portões do jardim ou a grande porta da frente e isso significava atravessar uma ampla plataforma pavimentada, onde as carruagens que traziam visitantes ao seminário davam a volta, mas onde a infantaria atacante podia ser dizimada pelos tiros dos mosquetes e dos rifles, a partir das janelas e da balaustrada do telhado do seminário.
- Uma armadilha mortífera! - disse Walters.
O coronel Walters olhava também para o vale e, obviamente, pensava o mesmo que Sharpe,
- Eu não gostaria nada de atacar por esta encosta acima - concordou Sharpe.
- E, para tornar as coisas um pouco mais difíceis, vamos instalar umas peças na outra margem - disse Walters, todo sorridente.
Sharpe esperava que isso fosse verdade. Continuava sem perceber por que é que não havia canhões ingleses no terraço do convento sobranceiro ao rio, terraço onde os portugueses haviam instalado as suas baterias em Março. Era uma posição óbvia, mas Sir Arthur Wellesley parecia ter preferido colocar a sua artilharia no meio das caves do vinho do Porto, as quais não se avistavam do seminário.
- Que horas são isto? - perguntou Walters, puxando de um relógio do bolso e respondendo ele próprio à pergunta. - Quase onze!
- O meu Coronel pertence ao estado-maior? - perguntou Sharpe, pois, embora o uniforme vermelho de Walters tivesse guarnições douradas, já esmae-cidas, não tinha nenhuma insígnia de regimento.
- Eu sou um dos oficiais exploradores de Sir Arthur - disse Walters, prazenteiro. - Cavalgamos à frente para sondar o terreno, como aqueles tipos da Bíblia que Josué mandou à frente para espiarem Jericó, lembra-se da história? Foi a sorte dos judeus, lembra-se? O povo eleito foi recebido por uma prostituta e eu fui recebido por um fuzileiro, mas acho que foi bem melhor do que um conspurcado beijo húmido de um raio de um sapo dragão. Sharpe sorriu.
- O meu Coronel conhece o capitão Hogan?
- O homem dos mapas? Claro que o conheço. Um homem essencial! Walters de repente calou-se e olhou para Sharpe. - Pois claro! Você é o fuzileiro perdido, é isso. Ah, agora é que estou a situá-lo. O capitão Hogan bem dizia que você ia sobreviver. Boa proeza, Sharpe. Ah, estão a chegar os primeiros dos nossos galantes Buffs.
Vicente e os seus homens escoltavam trinta casacas-vermelhas colina acima, mas, em vez de utilizarem a porta lateral que Sharpe destrancara, dobraram para a parte da frente e puseram-se a olhar boquiabertos para cima, para Walters e para Sharpe, os quais, por sua vez olhavam da janela para baixo. Os recém-chegados ostentavam a insígnia do 3º Regimento de Infantaria, um regimento do Kent, e estavam a suar, após a subida da colina, sob o sol quente. Eram comandados por um tenente muito magro que informou o coronel Walters de que já havia homens a desembarcarem das outras duas barcaças, olhando, depois, curioso, para Sharpe.
- Que raio estão os fuzileiros aqui a fazer?
- Os primeiros no terreno - disse Sharpe, citando o lema favorito do regimento - e os últimos a saírem.
- Os primeiros? Então, devem ter voado por cima do rio - comentou o tenente, limpando o suor da testa. - Não há por aí água?
- Há um barril logo à entrada da porta - disse Sharpe -, uma atenção do 95º
Mais homens iam chegando. As barcaças mourejavam de uma margem para a outra do rio, impelidas pelos remos maciços, manejados pelos habitantes locais, ansiosos por ajudarem, e, em cada vinte minutos, oitenta ou noventa homens afadigavam-se colina acima.
Num dos grupos, chegou um general, Sir Edward Paget, que assumiu o comando da crescente guarnição. Paget era um homem novo, ainda na casa dos trinta, enérgico e ambicioso, que devia a sua alta patente ao facto de pertencer a uma família aristocrática e muito rica, mas tinha a reputação de ser um general muito popular entre os soldados. Subiu até ao telhado do seminário, onde Sharpe tinha postado os seus homens e, vendo o óculo de Sharpe, pediu-lho.
- Perdi o meu - explicou ele. - Está algures na bagagem, em Lisboa.
- O meu General veio com Sir Arthur? - perguntou Sharpe.
- Sim, há três semanas - disse Paget, olhando para a cidade.
- Sir Edward - disse Walters a Sharpe - É o segundo-comandante de Sir Arthur.
- O que não significa grande coisa - disse Sir Edward -, pois ele nunca me conta nada. O que é que se passa com o raio deste óculo?
- Tem de segurar na lente de fora, meu General - disse Sharpe.
- Tem aqui o meu - disse Walters, estendendo o dele.
Sir Edward esquadrinhou a cidade e, depois, franziu o cenho.
- Afinal, o que é que o raio dos franceses andam a fazer? - perguntou ele, intrigado.
- Andam a dormir - respondeu Walters.
- Não vão achar graça nenhuma quando acordarem - comentou Paget. A dormirem na casa do guarda, com caçadores furtivos por todo o lado. Devolveu o óculo a Walters e voltou-se para Sharpe.
- Muito me agrada ter aqui fuzileiros, nosso Tenente. Acredito que vamos ter ocasião de atirar ao alvo antes do final do dia.
Mais outro grupo de homens subia a colina. Cada uma das janelas da reduzida frontaria do seminário estava, agora, guarnecida de casacas-vermelhas, bem como cerca de um quarto das janelas da comprida parede lateral. No muro do jardim tinham sido abertas seteiras, guarnecidas de homens de Vicente e de uma companhia de granadeiros Buffs.
Os franceses, sentindo-se seguros no Porto, vigiavam o rio entre a cidade e o mar, enquanto, nas costas deles, na elevada colina a leste, se amontoavam os casacas-vermelhas.
O que significava que os deuses da guerra apertavam as tarraxas. E alguma coisa tinha de ceder.
Dois oficiais, postados à entrada do Palácio das Carrancas, certificavam-se de que todos os visitantes descalçavam as botas. ”Sua Graça”, explicavam eles, referindo-se ao duque da Dalmácia, com a alcunha de Rei Nicolau, ”está a dormir”.
O átrio de entrada era cavernoso, alto, em arcada, e as botas de tacão alto a passarem no chão de tijoleira ecoavam escadas acima, até aos aposentos onde Nicolau dormia. Naquela manhã, muito cedo, um hussardo, apressado, prendera as esporas no tapete ao fundo das escadas e caíra, com um grande estardalhaço do sabre e do talabarte que acordara o marechal, o qual, então, mandara postarem-se ali os dois oficiais, para garantir que o resto do seu sono não seria perturbado. Os dois oficiais eram impotentes para calarem a artilharia inglesa que disparava da outra margem do rio, mas o marechal era, talvez, menos sensível ao fogo de canhão do que aos tacões altos.
O marechal tinha convidado uma dúzia de hóspedes para o pequeno-almoço, tendo chegado todos antes das nove da manhã, vendo-se forçados a esperarem, num dos grandes salões de recepção da ala oeste do palácio, com altas portas de vidro que davam para um terraço, decorado este com flores plantadas em vasos de pedra esculpidos e arbustos de loureiro que um jardineiro aparava com umas tesouras enormes. Os hóspedes, todos homens, menos um, todos franceses, menos dois, passeavam continuamente no terraço, o qual lhes proporcionava, da balaustrada sul, a vista sobre o rio e, portanto, a visão das peças que disparavam por sobre o Douro. Em boa verdade, não havia muito para ver, pois os canhões ingleses estavam instalados nas ruas de Vila Nova de Gaia e, por isso, mesmo com o auxílio dos óculos, os hóspedes apenas viam as manchas de fumo sujo, ouvindo depois o estampido das balas a embaterem nos edifícios de frente voltada para o cais. A única outra coisa que valia a pena ver eram os restos da ponte das barcas, que os franceses tinham reparado no início de Abril, mas que haviam entretanto destruído, perante o avanço de Sir Arthur Wellesley. Três pontões chamuscados ainda se viam presos às âncoras, mas os restantes, bem como a plataforma de passagem, tinham sido desfeitos em pedaços e arrastados para o oceano próximo.
Kate era a única mulher convidada para o pequeno-almoço do marechal e o marido fora inflexível, obrigando-a a envergar o uniforme de hussardo. A insistência dele foi recompensada com os olhares de admiração que os outros hóspede lançaram às compridas pernas da sua mulher. Christopher, pelo seu lado, vestia roupa civil, enquanto os outros dez homens, todos oficiais, envergavam os seus uniformes e, dada a presença de uma senhora, todos se mostravam despreocupados quanto à canhonada inglesa.
- O que eles estão a fazer - salientou um major de dragões, resplendente nos seus cordões e guarnições dourados - é dispararem às nossas sentinelas com tiros de peças de seis libras. Estão a esmagar moscas com um cacete. - Acendeu depois um charuto, inspirou fundo e lançou a Kate um prolongado olhar apreciativo. - Com um rabo daqueles - disse ele para um amigo - devia ser francesa.
- Ela devia era estar deitada de costas.
- Isso também, pois claro.
Kate mantinha-se afastada dos oficiais franceses. Tinha vergonha daquele uniforme, que considerava imodesto e, pior ainda, sugeria que ela simpatizava com os franceses.
- Podias fazer um esforço - disse-lhe Christopher.
- Eu estou a fazer um esforço - respondeu ela, amarga. - Estou a fazer um esforço para não dar um viva a cada tiro inglês.
- Estás a ser ridícula.
- Estarei? - retorquiu Kate.
- Aquilo é apenas uma ostentação - explicou Christopher, apontando para o fumo que pairava, tal nevoeiro esfarrapado, sobre os telhados de Vila Nova de Gaia. - Wellesley fez os homens marcharem até aqui, mas não pode ir mais longe. Está ali preso. Não há barcos no rio e a armada não é tola ao ponto de se arriscar a passar pelos fortes do rio. Por isso, Wellesley vai fustigar a cidade com uns quantos canhonaços, depois dá meia volta e marcha para Coimbra ou para Lisboa. Em linguagem de xadrez, isto é um empate forçado. Soult não pode avançar para sul porque ainda não lhe chegaram os reforços e Wellesley não pode avançar para norte porque não tem barcos. E, se os militares não conseguem resolver o assunto, é a vez dos diplomatas tratarem da questão. E é para isso que eu estou aqui, como tenho andado a dizer-te.
- Tu estás aqui - disse Kate - porque estás do lado dos franceses.
- Isso é uma observação extremamente ofensiva - disse Christopher, altivo. - Eu estou aqui porque, como qualquer homem sensato, tudo devo fazer para evitar que esta guerra se prolongue e, para isso, tenho de falar com o inimigo e não posso falar com o inimigo se estiver no lado errado do rio.
Kate não respondeu. Deixara de acreditar nas intrincadas explicações do marido, quanto à cordialidade dele com os franceses, como tão-pouco acreditava no palavreado quanto às novas ideias que determinavam o destino da Europa. Em vez disso, agarrava-se à ideia simples de ser patriota e tudo o que desejava agora era atravessar o rio e juntar-se aos que estavam na outra margem, mas não havia barcos, não havia ponte, não havia maneira de escapar dali. Começou a chorar e Christopher, desgostoso, perante o patentear da desolação dela, afastou-se. Ia esgaravatando os dentes com um palito de marfim, admirado por uma mulher tão bonita ser tão atreita à melancolia.
Kate limpou as lágrimas e caminhou até onde o jardineiro estava a aparar os arbustos.
- Como é que eu posso atravessar o rio? - perguntou ela em português. O homem nem olhou para ela, continuando a aparar o arbusto.
- Não pode.
- Eu tenho de atravessar!
- Se tentar, eles matam-na. - O homem olhou para ela, apreciando o uniforme justo e tornou a voltar-se para o arbusto. - Eles matam-na, de qualquer modo.
Um relógio, no átrio de entrada do palácio, fez soar as onze horas, quando o marechal descia a grande escadaria. Trazia um robe de seda, por cima da camisa e das calças de montar.
- O pequeno-almoço está pronto? - perguntou ele.
- Sim, meu Marechal, no salão azul - respondeu um dos oficiais ajudantes-de-campo -, e os hóspedes estão cá todos.
- Muito bem, muito bem.
Esperou que lhe abrissem as portas, saudando depois os visitantes com um largo sorriso.
- Façam o favor de se sentar. Ah, vai ser um pequeno-almoço informal. - Esta observação referia-se ao facto de o pequeno-almoço estar disposto em travessas de prata aquecidas, colocadas num aparador que o marechal percorreu, levantando as tampas das travessas. - Presunto! Esplêndido. Rim grelhado, excelente! Bifes! Língua, bom, bom. E fígado. Isto parece tudo muito bom. Bom dia, coronel! - Esta saudação foi dirigida a Christopher, que respondeu com uma vénia. - Ainda bem que veio - prosseguiu Soult. - E trouxe a sua encantadora mulher. Ah, estou a vê-la. Bom, bom Vai sentar-se ali, nosso Coronel.
Soult apontou para uma cadeira junto da que ia ocupar. Soult gostava do inglês que tinha traído os conspiradores, os quais se teriam amotinado se Soult se tivesse declarado rei. O marechal ainda acarinhava essa ambição, mas reconhecia que, antes de assumir a coroa e o ceptro, tinha de derrotar o exército anglo-português que se atrevera a avançar a partir de Coimbra.
Soult ficara surpreendido com o avanço de Wellesley, mas não alarmado. O rio estava bem vigiado e tinham-lhe assegurado que não havia barcos na margem oposta e, por isso, no que ao Rei Nicolau dizia respeito, os ingleses podiam muito bem instalar-se na margem sul do Douro e torcer as mãos para sempre.
As janelas altas tiniam em simpatia com o estrondo das peças e o som fez o marechal voltar-se das travessas.
- Os nossos artilheiros estão um bocado atarefados esta manhã, não acham?
- São principalmente as armas inglesas, meu Marechal - disse um dos oficiais ajudantes.
- A fazerem o quê?
- Estão a disparar sobre as nossas sentinelas no cais - disse o ajudante. - Estão a esmagar moscas com balas de seis libras.
Soult riu-se.
- É do que gosta o fanfarrão do Wellesley - disse ele, fazendo sinal a Kate para se sentar no lugar de honra, à direita dele. - Regozijo-me por ter a companhia de uma mulher bonita ao pequeno-almoço.
- É melhor ter uma antes do pequeno-almoço - disse um coronel de infan-taria e Kate, que sabia muito mais francês do que qualquer dos homens pensava, ficou toda ruborizada.
Soult encheu o prato com fígado e presunto e sentou-se à mesa.
- Eles estão a esmagar sentinelas - disse ele - e nós o que e que estamos a fazer?
- Ripostamos com as nossas baterias, meu Marechal - respondeu o ajudante. - Não tem aí rins, meu Marechal. Quer que lhe leve alguns?
- Sim, por favor, Cailloux. Eu gosto muito de rins. Há notícias do Castelo? O Castelo do Queijo ficava na margem norte do Douro, junto ao mar e estava fortemente guarnecido, para repelir um assalto inglês da banda do mar.
- Informam de lá que há duas fragatas fora de alcance das armas e que não há mais nada à vista.
- Ele hesita, não é? - disse Soult, todo satisfeito. - Wellesley é um hesitante. Sirva-se de café, nosso Coronel - disse ele, dirigindo-se a Christopher e uma chávena para mim também, se quer fazer o favor. Obrigado. - Soult pegou num pãozinho e serviu-se de manteiga. - Estive a falar com Vuillard, ontem à noite - continuou o marechal -, e ele desfez-se em desculpas. Centenas de desculpas!
- Mais um dia, meu Marechal - disse Christopher -, e nós tínhamos tomado aquela montanha.
Kate, os olhos vermelhos, olhou para baixo, para o prato vazio. O marido dissera ”tínhamos”, o marido dissera ”nós”.
- Mais um dia? - retorquiu Soult, carrancudo. - Ele devia tê-la tomado no primeiro minuto do primeiro dia!
Soult mandara Vuillard e as suas tropas retirarem de Vila Real de Zedes logo que soubera que as tropas anglo-portuguesas avançavam a partir de Coimbra, mas ficara danado por uma força tão considerável ter sido incapaz de desalojar uma força tão diminuta. Embora isso não tivesse importância, o que importava, agora, era dar uma lição a Wellesley.
Soult achava que isso não seria difícil, pois sabia que Wellesley dispunha de um pequeno exército e de pouca artilharia. E sabia isso porque o capitão Argenton havia sido preso uns dias antes e debitara tudo o que sabia e tudo o que observara na sua segunda visita aos ingleses. Argenton encontrara-se, até, com o próprio WelIesley, observara os preparativos para o avanço aliado e fora o seu aviso que possibilitara a retirada em segurança dos regimentos franceses a sul do rio, escapando a uma força que pretendia isolá-los pela retaguarda. Portanto, Wellesley, agora, estava imobilizado na margem sul do Douro, sem dispor de barcos para a travessia do rio, a menos que a armada inglesa lhos enviasse, o que não parecia muito viável. Duas fragatas a deambularem ao largo? Não era coisa para fazer tremer o duque da Dalmácia.
Argenton, a quem fora poupada a vida em troca das informações prestadas, fora preso graças às revelações de Christopher, o que colocara Soult em dívida para com o inglês. Christopher revelara os nomes dos outros conspiradores, Donadieu do 47º, os irmãos Lafitte do 18º de Dragões, bem como mais três ou quatro oficiais experientes, mas Soult decidira não os castigar. A prisão de Argenton era um aviso para eles e, sendo todos oficiais muito popu-lares entre os soldados, não era sensato criar ressentimentos no seio do exército, com uma série de fuzilamentos. Bastava que eles soubessem que ele sabia e que tivessem consciência de que as suas vidas dependiam do seu comportamento futuro. Era melhor ter esses homens na mão, do que enterrados.
Kate estava a chorar. Silenciosa, as lágrimas rolavam-lhe muito simplesmente pelas faces, ela limpava-as com as mãos, tentando esconder os seus sentimentos, mas Soult deu por isso.
- O que é que se passa? - perguntou ele, gentilmente.
- Ela está com medo - respondeu Christopher.
- Está com medo?
Christopher fez um gesto indicando a janela, que continuava a estremecer com o estrondear dos canhões.
- Mulheres e batalhas, Meu Marechal, não se dão muito bem.
- Só no meio dos lençóis - disse Soult, sorrindo. - Diga-lhe - prosseguiu ele - que não há a recear. Os ingleses não conseguem atravessar o rio e, se o tenta-rem, serão repelidos. E, dentro de semanas, chegarão os nossos reforços. - Fez uma pausa, para permitir a tradução, e esperava ter razão quanto aos reforços ou, então, não sabia como iria continuar a invasão de Portugal. E, quando os reforços chegarem, vamos avançar para sul, para desfrutarmos as delícias de Lisboa. Diga-lhe que, lá para Agosto, já teremos paz. Ah, o cozinheiro!
Um francês alentado, com um bigode enorme, entrara na sala. Trazia um avental manchado de sangue, com uma medonha faca de trinchar à cintura.
- Mandou-me chamar, meu Marechal? - disse ele, soando a contrariado.
- Mandei, pois. - Soult empurrou a cadeira para trás, esfregando as mãos. - Temos de pensar no jantar, sargento Deron! Vou ter dezasseis talheres e quero saber o que é que sugere?
- Eu tenho enguias.
- Enguias! - exclamou Soult, todo contente. - Recheadas com pescada em molho de manteiga e cogumelos? Excelente.
- Eu vou cortá-las em filetes - disse, casmurro, o sargento Deron -, fritá-las em salsa e servi-las com um molho de vinho tinto. E, para entrada, tenho borrego, um borrego muito bom.
- Muito bem! Eu gosto de borrego - disse Soult. - Não pode fazer um molho de alcaparras?
- Um molho de alcaparras? - Deron parecia desolado. - O vinagre ia afogar o borrego - disse ele, indignado -, e trata-se de borrego muito bom, tenro e gordo.
- Podia ser um molho de alcaparras muito leve, talvez? - sugeriu Soult.
O som das armas aumentou para uma fúria repentina, fazendo estremecer as janelas e entrechocarem-se os pingentes de cristal dos dois candelabros suspensos sobre a comprida mesa, mas tanto o marechal como o cozinheiro ignoraram o barulho.
- O que eu posso fazer - disse Deron, num tom que sugeria que a discussão terminava ali - é cozinhar o borrego em gordura de pato.
- Muito bem! - disse Soult.
- E guarnecê-lo com cebolinhas, presunto e uns cogumelos.
Um oficial com um ar exausto, a suar, a cara vermelha do calor do dia, entrou na sala.
- Meu Marechal!
- Um momento - disse Soult, franzindo o sobrolho, e tornando a olhar para Deron. - Cebolas, presunto e uns cogumelos? - repetiu ele. - Mas talvez pudés-semos juntar umas tiras de toucinho, nosso Sargento? O toucinho vai tão bem com o borrego!
- Eu vou guarnecê-lo com fatias de presunto - disse Deron, estoicamente - cebolas e uns cogumelos.
Soult rendeu-se.
- Eu sei que vai saber soberbamente. E, Deron, obrigado por este pequeno-almoço. Muito obrigado.
- Teria sabido melhor se fosse comido - cozinhado - disse Deron, depois fungando e saindo da sala.
Soult ficou a olhar para as costas do cozinheiro, voltando-se depois, com ar carrancudo, para o recém-chegado que o interrompera.
- Você é o nosso capitão Brossard, não é? Quer tomar o pequeno-almoço? - Soult indicou, com a faca da manteiga, que Brossard se devia sentar ao fundo da mesa. - Como está o general Foy?
Brossard era ajudante-de-campo de Foy e não tinha tempo para pequenos-almoços, nem tão-pouco para relatar o estado de saúde do general Foy. Trazia uma notícia importante e estava tão cheio da importância da notícia que, por um momento, não conseguiu falar adequadamente, mas depois dominou-se e apontou para leste.
- Os ingleses estão no seminário, meu Marechal!
Soult olhou para ele longamente, não acreditando no que ouvia.
- Estão o quê? - perguntou por fim.
- Os ingleses, meu Marechal, estão no seminário.
- Mas Quesnal garantiu-me que eles não tinham barcos! - protestou Soult.
Quesnal era o governador da cidade.
- Não havia nenhum na outra margem, meu Marechal.
Todos os barcos tinham sido retirados da água e empilhados no cais, à disposição dos franceses, mas de nada serviam para quem viesse do sul.
- Eles, contudo, atravessaram o rio - disse Brrossard. - E já ocuparam a colina do seminário.
Soult sentiu o coração falhar uma batida. O seminário ficava numa colina que dominava a estrada para Amarante e essa estrada era a sua ligação aos depósitos em Espanha e, bem assim, a ligação da guarnição do Porto às tropas do general Loison, no Tâmega. Se os ingleses cortassem a estrada, Podiam, depois, massacrar o exército francês partido aos bocados e a reputação de Soult ia por água abaixo. O marechal levantou-se, deitando a cadeira ao chão na sua ira.
- Digam ao general Foy para os empurrar para o rio! - rugiu ele. - já! Vão-se embora! Empurrem-nos para o rio!
Os oficiais apressaram-se a sair da sala, deixando Kate e Christopher sozinhos, Kate viu o ar de pânico estampado na cara do marido e sentiu uma alegria feroz. As janelas estremeciam, os candelabros tiniam e os ingleses estavam a chegar.
- Bem, bem, bem! Temos fuzileiros entre nós! Andamos abençoados, na verdade. Não sabia que havia homens do 95º agregados à Brigada.
O oficial que falava era um homem grande, rubicundo, com uma cabeça careca e uma cara afável. Se não fosse o uniforme, mais pareceria um alegre lavrador e Sharpe conseguia imaginá-lo no mercado de uma cidadezinha de Inglaterra, encostado a uma cerca, a apontar para ovelhas gordas, à espera que o leilão do gado começasse.
- Daddy’ Hill - disse Harris a Pendleton.
- Ai, ai, meu rapaz - troou o general Hill -, não deves usar o diminutivo de um oficial quando ele te pode ouvir. Podes ser punido por isso.
- Desculpe, meu General - disse Harris, que não pretendera falar tão alto.
- Bem, como és um fuzileiro, eu perdoo-te. Mas és um fuzileiro muito mal-amanhado, verifico eu! Que vai ser do exército, se as pessoas não se arranjam para a batalha. - Fitou Harris e, depois, meteu a mão no bolso e retirou uma mancheia de avelãs. - Toma lá, rapaz, para ocupares a língua. - Muito obrigado, meu General.
Havia agora dois generais no telhado do seminário. O general Hill, comandante da 1ª Brigada, cujas forças estavam a atravessar o rio e cuja natureza cordial lhe valera a alcunha de ”Daddy”, juntara-se a Sir Edward Paget justamente a tempo de ver três batalhões de franceses a surgirem dos limítrofes da cidade e a formarem duas colunas para atacarem a colina do seminário. Os três batalhões encontravam-se no vale, a serem arrastados e mantidos nas fileiras por sargentos e cabos. Uma coluna dirigia-se directamente para a fachada do seminário, enquanto a outra se estava a formar junto à estrada de Amarante, para assaltar o flanco norte. Os franceses, porém, tinham-se apercebido de que estavam a chegar constantemente reforços ingleses ào seminário e tinham enviado três baterias de peças para a margem do rio, com ordens de afundarem as três barcaças. As colunas esperavam que a artilharia abrisse fogo, possivelmente na convicção de que, uma vez afundadas as barcaças, voltassem as peças para o seminário.
E Sharpe, que se admirara por Sir Arthur Wellesley não ter instalado peças no convento do outro lado do rio, via agora que se preocupara sem razão, pois, mal as baterias francesas apareceram, uma dúzia de peças inglesas, que tinham estado ocultas na parte de trás do terraço do convento, foram empurradas para a frente.
- Aquilo é um raticida para franceses! - exclamou o general Hill, quando a fila de canhões apareceu.
A primeira peça a disparar foi um obus de cinco polegadas e meia, a arma inglesa equivalente à que bombardeara Sharpe na montanha da torre de vigia. Era carregada com um invólucro esférico, uma arma de que só os ingleses dispunham, inventada pelo tenente-coronel Shrapnel e o seu modo de funcionamento era um segredo muito bem guardado. A granada, abarrotada com balas de mosquete, em volta de uma carga central de pólvora, ao explodir fazia cair sobre as tropas do inimigo uma chuva de balas e de fragmentos do invólucro. Contudo, para ser eficaz, tinha de explodir a pouca distância do alvo, por forma a que a impulsão do tiro atirasse os projécteis para a frente, para cima do inimigo, o que exigia da parte dos artilheiros uma grande perícia quanto ao comprimento do rastilho.
O artilheiro do obus tinha essa perícia. O obus troou e recuou no rodado, a granada descreveu um arco sobre o rio, deixando na sua esteira o revelador fio de fumo do rastilho, e explodiu a uns vinte metros antes e a uns cinco de altura do local onde a principal peça francesa estava a ser instalada. A explosão rasgou o ar de vermelho e branco, as balas e o invólucro fragmentado guin-charam ao caírem e todos os cavalos da equipa francesa ficaram esventrados. Todos os catorze homens, serventes da peça, foram atingidos, uns mortos e outros feridos. Quanto à peça, foi arrancada da carreta.
- Oh, meu Deus! - exclamou Hill, esquecendo-se da expressão sanguinária com que saudara o aparecimento das baterias inglesas. - Aqueles desgraçados, meu Deus!
Os vivas dos soldados ingleses no seminário foram abafados pelo enorme ribombo das outras peças britânicas a abrirem fogo. Da altitude a que se encontravam na margem sul, dominavam a posição francesa e os seus invó-lucros esféricos, as granadas comuns e as balas de canhão atingiam as peças francesas com efeitos terríveis. Os artilheiros franceses abandonaram as peças, deixaram os cavalos a relincharem e a morrerem e fugiram. As peças inglesas, então, apertaram os parafusos de elevação, ou aliviaram as cunhas dos obuses, e puseram-se a despejar granada após granada sobre a massa de fileiras da coluna francesa mais próxima. Fustigaram-na de flanco, despejando balas de canhão nas filas compactas, fazendo explodir os invólucros das granadas sobre as cabeças dos soldados franceses e matando-os com uma facilidade terrível.
Os oficiais franceses lançaram um olhar de pânico à sua artilharia destro-çada e ordenaram à infantaria que subisse a colina. Os tambores no meio das duas colunas começaram a soar com o seu ritmo incessante e a primeira fileira avançou, ao mesmo tempo que uma bala de canhão irrompeu pelas fileiras, abrindo um sulco vermelho nos uniformes azuis. Homens gritavam e morriam, mas os tambores continuavam a soar, os soldados soltando o seu grito de guerra: ”Vive l’Empereur!”
Sharpe já tinha visto colunas compactas e ficava sempre estupefacto. O exército inglês combatia contra outra infantaria formado em duas filas, de modo que todos os homens podiam usar o respectivo mosquete. Se, por exemplo, a cavalaria inimiga os atacava, os homens formavam em quadrado e conti-nuavam todos a poder disparar. Porém, os soldados no meio das compactas colunas francesas não podiam disparar sem ferirem os homens à frente deles.
As colunas francesas tinham ambas cerca de quarenta homens em cada fila e vinte em coluna. Os franceses utilizavam essa formação, um grande bloco de homens, porque, desse modo, era mais fácil convencer homens mobilizados à força a avançarem e também porque, contra tropas mal treinadas, a simples visão de semelhante massa de homens era aterradora. Mas contra casacas-vermelhas? Era puro suicídio.
”Vive l’Empereur!”, gritavam os franceses ao ritmo dos tambores, embora com pouca alma, já que ambas as formações estavam a escalar a colina e os homens ofegavam.
- Deus salve o nosso bom rei George - pôs-se o general Hill a cantar, surpreendentemente com voz de tenor -, longa vida tenha o nobre rei George, não disparem muito alto.
Cantou, também, as últimas quatro palavras e os homens que estavam no telhado sorriram.
Hagman armou o cão do seu rifle e suspirou ao ver um oficial que se esforçava encosta acima com uma espada na mão. Os fuzileiros de Sharpe guarneciam a ala norte do telhado do seminário, enfrentando a coluna que não estava a ser flagelada pela artilharia instalada no terraço do convento. Uma nova bateria se tinha instalado mais em baixo, na margem sul do rio, juntando o seu fogo ao das duas baterias do terraço do convento. Nenhuma das peças inglesas, porém, conseguia ver a coluna do lado norte, a qual teria de ser repelida apenas pelo fogo dos rifles e dos mosquetes. Os portugueses de Vicente guarneciam as seteiras do muro do jardim, também do lado norte e, naquela altura, já havia tantos soldados no seminário que, em cada seteira, havia três ou quatro homens, de modo que cada um podia disparar, recuando para recarregar a arma, enquanto outro homem tomava o lugar dele. Sharpe reparou que alguns dos casacas-vermelhas tinham guarnições e punhos verdes. Os Berkshires, pensou ele, o que significava que os Buffs; já estavam no edifício e novos batalhões continuavam a chegar.
- Apontem aos oficiais! - gritou Sharpe aos fuzileiros. - Mosquetes, não disparem! A ordem é só para os fuzileiros. - Fez a distinção porque, àquela distância, o disparo de um mosquete era um tiro perdido, mas o de um rifle era mortal, Esperou um segundo e inspirou fundo. - Fogo!
O oficial de Hagman inclinou-se para trás, os braços no ar, a espada a voar por cima da coluna. Outro oficial caiu de joelhos, agarrado à barriga, e um terceiro agarrou um ombro. A frente da coluna passou sobre o corpo do primeiro oficial, a fileira de uniformes azuis pareceu estremecer, sob o impacto das balas e, então, as filas da frente da coluna francesa, aterrorizadas com o assobiar das balas de rifle nos ouvidos, dispararam contra o seminário. A descarga feriu os ouvidos, o fumo cobriu a coluna como um nevoeiro e as balas de mosquete matraquearam nas paredes do seminário, estilhaçando os vidros das janelas. A descarga serviu, pelo menos, para ocultar os soldados franceses durante alguns metros, mas tornaram a aparecer no meio do fumo, mais rifles dispararam e outro oficial caiu ao chão. A coluna dividiu-se para ultrapassar a árvore solitária, para logo as filas se juntarem.
Os homens que guarneciam o jardim abriram fogo, os casacas-vermelhas guarneceram as janelas do seminário e, em conjunto com os fuzileiros de Sharpe no telhado, premiram os gatilhos. Os mosquetes cuspiam fogo, o fumo adensava-se, as balas enterravam-se nos homens das filas da frente da coluna, derrubando-os, e os homens que avançavam atrás deles iam perdendo a coesão, ao evitarem pisar os companheiros mortos ou feridos.
- Atirem baixo! - gritava um sargento de Buffs aos seus homens. - Não desperdicem o chumbo de Sua Majestade!
O coronel Walters levava cantis de água aos homens do telhado, sequiosos, por morderem os cartuchos. O salitre da pólvora secava a boca num instante e os homens engoliam água no intervalo das descargas.
A coluna que atacava a fachada oeste do seminário estava já fragmentada. Esses soldados estavam a ser dizimados pelo fogo dos rifles e dos mosquetes, mas a canhoneada a partir da margem sul era ainda mais mortífera. Os artilheiros raramente enfrentavam um alvo tão fácil, ofereciam-lhes a oportunidade de varrerem o flanco de uma coluna de infantaria inimiga e eles labutavam como demónios. Granadas esféricas rebentavam no ar, atirando ígneos rastos de fumo em trajectórias loucas, balas de canhão rebolavam e esmagavam ao longo das filas e as granadas comuns explodiam no centro da coluna. Três tambores foram atingidos por fragmentos de invólucros, uma bala de canhão decapitou um outro e, quando os instrumentos se calaram, os soldados perderam a coragem e começaram a recuar. As descargas de mosquete cuspiam metralha dos três andares do seminário e o enorme edifício parecia agora pasto de fogo, por causa do espesso fumo de pólvora que pairava junto das janelas. As seteiras jorravam chamas, as balas atingindo as filas hesitantes e, então, os franceses da coluna oeste começaram a retirar mais depressa, o movimento de recuo transformou-se em pânico e fugiram.
Alguns, em vez de se irem abrigar nas casas do vale, casas que estavam, agora, a ser destruídas pelos tiros de canhão, com os primeiros incêndios a surgirem no meio dos destroços, correram a juntar-se à coluna que atacava do lado norte e que estava protegida dos tiros de canhão pelo seminário. Essa coluna continuava a avançar. Estava a ser horrivelmente castigada, absorvendo as balas dos rifles e dos mosquetes, mas os sargentos e os oficiais continuavam a empurrar os homens para as filas da frente, para tomarem o lugar dos mortos e dos feridos. A coluna chegou, pois, ainda poderosa ao cimo da colina, mas ninguém, nas fileiras francesas, tinha pensado no que fariam quando chegassem ao cimo, onde não havia porta nenhuma. Teriam de ladear o edifício e tentar arrombar os portões do jardim, mas os homens das primeiras filas, não vendo nenhum sítio para onde ir, simplesmente pararam e puseram-se a disparar. Uma bala roçou a manga de Sharpe. Um recém-tenente do regimento de Northamptonshire caiu ao chão com um suspiro, com uma bala na testa. Caiu de costas, morto antes de chegar ao chão, na cara uma expressão estranhamente serena. Os casacas-vermelhas tinham colocado os cartuchos e encostado as varetas ao parapeito do telhado, para recarregarem as armas mais depressa, mas havia agora tantos no telhado que se empurravam uns aos outros para disparar sobre a massa difusa de franceses, envolta no seu próprio fumo. Um francês correu corajosamente para a frente, para disparar por uma seteira, mas foi atingido antes de conseguir chegar ao muro. Sharpe disparou um tiro e, depois, pôs-se simplesmente a observar os seus homens. Pendeleton e Perkins, os mais jovens, sorriam, ao dispararem. Cooper e Tongue estavam a recarregar os rifles para Hagman disparar, sabendo que ele era melhor atirador, e o antigo caçador clandestino abatia calmamente francês após francês.
Uma bala de canhão rugiu por cima dele e Sharpe voltou-se e verificou que os franceses tinham instalado uma bateria na colina a oeste, nos limítrofes da cidade. Havia ali uma pequena igreja, com uma torre sineira e Sharpe viu a torre esvanecer-se em fumo e depois ruir, sob o fogo das baterias inglesas do convento, agora a fustigarem a recém-chegada bateria francesa. Um homem do regimento do Bertkshire voltou-se para olhar, uma bala entrou-lhe pela boca, destroçando-lhe os dentes e a língua, e ele pôs-se a praguejar incoerentemente, cuspindo sangue.
- Não se ponham a olhar para a cidade! - gritou Sharpe. - Continuem a disparar, não parem de disparar!
Centenas de franceses estavam a disparar os seus mosquetes para o cimo da colina, a maior parte dos tiros simplesmente perdidos, a embaterem nas paredes, mas alguns atingindo alvos. Dodd tinha uma ferida no braço esquerdo, mas continuava a disparar. Um casaca-vermelha foi atingido na garganta e morreu sufocado. A árvore solitária na encosta norte torcia-se ao ser atingida pelas balas e as folhas aos pedaços voavam para longe, com o fumo dos mosquetes dos franceses. Um sargento dos Buffs caiu com uma bala nas costelas e, então, Sir Edward Paget mandou homens do lado oeste do telhado, que já haviam visto a coluna deles destroçada, juntarem o seu fogo ao dos homens do flanco norte. Os mosquetes flamejavam, tossiam e cuspiam fogo, o fumo adensava-se e Sir Edward sorriu para Daddy Hill.
- Sacanas valentes! - Sir Edward teve de gritar, para se fazer ouvir sobre o ruído dos rifles e dos mosquetes.
- Eles não vão aguentar, Ned - gritou Hill em resposta. - Não podem aguentar.
Hill tinha razão. Os primeiros soldados franceses estavam já a retroceder na colina, dada a inutilidade de dispararem para paredes de pedra. Sir Edward, exultante perante a vitória fácil, foi ao parapeito para observar o inimigo a retirar e ali ficou, as guarnições douradas a reflectirem o sol ofuscado pelo fumo, a ver a coluna inimiga a desintegrar-se, mas um francês obstinado ainda disparou e, de repente, Sir Edward arquejou, levando uma mão ao cotovelo, e Sharpe viu que a manga da elegante casaca-vermelha do general estava rasgada, que a ponta lascada de um osso aparecia através do buraco do tecido e da ensanguentada pele dilacerada.
- Raio! - praguejou Paget.
O ferimento doía-lhe terrivelmente. A bala tinha-lhe partido o cotovelo e abrira caminho bíceps acima. Estava meio dobrado com a dor e muito pálido.
- Levem o general lá para baixo, para os médicos - ordenou Hill. Você vai ficar bom, Ned.
Paget esforçou-se por ficar direito. Um ajudante tirou um lenço do pescoço e tentava enrolá-lo na ferida, mas Paget afastou-o.
- O comando é seu - disse ele para Hill, os dentes cerrados.
- Assim é - disse Hill, reconhecendo aceitar o comando.
- Continuem a disparar! - gritou Sharpe para os seus homens.
Não interessava que os canos dos rifles estivessem tão quentes que nem se lhes podia tocar, o que era preciso era escorraçar o resto dos soldados franceses para fora da colina ou, melhor ainda, matá-los. Outro amontoado de passos revelava que mais reforços haviam chegado ao seminário, pois os franceses ainda não tinham encontrado maneira de travar o tráfego através do rio. Os artilheiros ingleses, reis daquele campo de batalha, estavam a massacrar todos os artilheiros franceses que ousavam dar a cara. A cada momento, um destemido grupo de franceses corria para as peças abandonadas no cais, na esperança de atirarem um tiro numa das barcaças, mas a cada momento eram atingidos por granadas esféricas e mesmo por metralha, pois a nova bateria inglesa, junto à margem do rio, estava instalada suficientemente perto para utilizar a munição mortífera através do rio. As balas de mosquete explodiam da boca do canhão tal chumbo de tiro aos pombos, matando cinco ou seis homens de cada vez e, passado pouco, os artilheiros franceses punham fim aos seus esforços, escondendo-se nas casas afastadas do cais.
E, de repente, já não havia soldados franceses a dispararem na encosta norte. A erva estava horrenda, coberta de mortos, de feridos, de mosquetes caídos e de pequenos fogos tremeluzentes, nos sítios onde as buchas fumegantes tinham pegado fogo à erva. Os sobreviventes, porém, tinham fugido para o vale, para a estrada de Amarante. A árvore isolada parecia ter sido atacada pelos gafanhotos. Um tambor rolava encosta abaixo, produzindo um ruído de matraca. Sharpe enxergou um estandarte francês no meio do fumo, mas não conseguiu distinguir se a insígnia era encimada por uma águia.
- Cessar fogo! - ordenou Hill.
- Limpem os canos! - gritou Sharpe. - Verifiquem as pederneiras! Porque os franceses iam voltar. Disso tinha ele a certeza. Eles iam voltar.
Mais homens chegavam ao seminário. Uma quantidade de civis portu-gueses chegou com armas de caça e sacos de munições.
Vinham acompanhados por um padre rubicundo, vivamente aclamado pelos casacas-vermelhas, quando apareceu no jardim com um bacamarte em boca de sino, como os usados pelos condutores de mala-posta para repelirem os ladrões de estrada. Os Buffs tinham reacendido os fogões das cozinhas e levavam agora grandes caldeirões de chá e de água quente para o telhado. O chá limpava as gargantas dos soldados e a água quente lavava-lhes os rifles e os mosquetes. Subiram também para o telhado dez caixotes de munições e Harper encheu o quépi de cartuchos que, não sendo tão bons como os de rifle, serviam muito bem num aperto.
- E podemos dizer que estamos num aperto, não é, meu Tenente? - perguntou ele, distribuindo os cartuchos ao longo do parapeito, onde se encontravam os homens e as varetas.
Os franceses estavam a amontoar-se no terreno plano do lado norte. Se fossem espertos, pensava Sharpe, iam trazer morteiros Para ali, mas, até então, não aparecera nenhum. Talvez os morteiros estivessem todos a oeste da cidade, aguardando a Royal Navy, e demasiado longe para chegarem depressa.
Mais seteiras se abriam no muro norte do jardim. Dois soldados do regimento de Northampton haviam arrimado ao muro duas barricas da água da chuva, colocando-lhes em cima a porta do barracão do jardim, de modo que, subindo para cima da porta, podiam disparar por cima do muro.
Harris levou a Sharpe uma tigela de chá, depois olhou para a esquerda e para a direita, retirando então uma perna de galinha da cartucheira.
- Pensei que talvez lhe apetecesse mastigar qualquer coisa, meu Tenente.
- Onde é que arranjaste isto?
- Encontrei por aí, meu Tenente - disse Harris vagamente -, e arranjei também uma para si, nosso Sargento.
Harris deu uma perna a Harper, retirando a seguir um peito que, depois de lhe soprar a pólvora que trazia agarrada, se pôs a comer, esfomeado.
Sharpe descobriu que estava cheio de fome e a galinha soube-lhe deliciosamente.
- Donde é que isto veio? - insistiu ele.
- Acho que era o jantar do general Paget, meu Tenente - confessou Harris - mas ele, possivelmente, perdeu o apetite.
- Deve ter perdido, sim - disse Sharpe -, e era uma pena desperdiçar-se esta bela galinha.
Voltou-se, ao soarem tambores, e verificou que os franceses estavam a formar as suas fileiras de novo, mas, desta vez, apenas do lado norte do seminário.
- Todos aos seus postos! - ordenou ele, atirando o osso da galinha para o jardim.
Uns quantos soldados franceses carregavam agora com escadas, certa-mente pilhadas nas casas que a artilharia inglesa deitara ao chão.
- Quando eles se aproximarem - gritou Sharpe -, atirem aos homens com as escadas.
Mesmo sem o fogo dos rifles, duvidava que os franceses conseguissem chegar suficientemente perto para encostarem as escadas ao muro, mas não se perdia nada em evitá-lo. A maior parte dos seus fuzileiros tinha aproveitado a pausa do combate para limpar os canos e carregá-los com balas envoltas em couro e com pólvora de primeira, o que significava que os primeiros tiros que disparassem iam ser mortalmente precisos. Seguidamente, à medida que os franceses pressionassem e o fumo se adensasse, usariam cartuchos, deixando os pedaços de couro no depósito das coronhas, desse modo sacrificando a precisão à velocidade. Sharpe carregava o seu próprio rifle, usando o pedaço de couro, mas, mal tornara a prender a vareta nos grampos, tinha o general Hill junto dele.
Eu nunca disparei um rifle - disse Hill.
É muito semelhante a um mosquete, meu General - disse Sharpe, embara-çado por um general lhe dirigir a palavra,
- Posso? - Hill estendeu a mão para a arma e Sharpe passou-lha. - É uma bela arma - disse Hill vivamente, acariciando o guarda-mão do Baker -, nada incómodo como o mosquete.
- É uma coisa amorosa - disse Sharpe, fervoroso.
Hill apontou a arma encosta abaixo, parecendo ir armar o cão e disparar, porém, rapidamente devolveu o rifle a Sharpe. - Eu gostava muito de o experimentar - disse ele -, mas, se falhasse o alvo, todo o exército ia saber disso, não era? E eu nunca mais me recompunha do malogro.
Hill falou em voz alta, com a sua voz sonora, e Sharpe compreendeu que tinha sido um participante involuntário numa pequena peça de teatro. Hill não estava nada interessado no rifle, antes quisera afastar a mente dos homens do perigo que os ameaçava. Com a sua atitude, tinha-os subtilmente lisonjeado, sugerindo que eles eram capazes de fazer algo que ele não sabia fazer e, com isso, pusera-os a sorrir. Sharpe pôs-se a pensar no que acabava de presenciar. Admirava a atitude de Hill, mas também admirava a atitude de Sir Arthur Wellesley, que seria incapaz de semelhante comportamento. Sir Arthur ignorava os homens e estes, pelo seu lado, combatiam ferozmente, para conquistarem a relutante aprovação dele.
Sharpe nunca perdera muito tempo a pensar porque é que uns nasciam para serem oficiais e outros não. Ele próprio saltara sobre o abismo, mas isso não tornava o sistema menos injusto. Sem embargo, queixar-se alguém da injustiça do mundo era o mesmo que resmungar porque o sol é quente, ou porque o vento muda de direcção. A injustiça existia, sempre existira e continuaria a existir. Porém, aos olhos de Sharpe, o milagre era que alguns homens, como Hill e Wellesley, embora ricos e privilegiados com vantagens injustas, eram, apesar de tudo, soberbamente competentes no que faziam. Nem todos os generais eram bons, muitos eram mesmo muito maus, mas Sharpe tinha, geralmente, tido a sorte de se ver comandado por homens que sabiam do seu ofício. A Sharpe pouco interessava que Sir Arthur Wellesley fosse filho de um aristocrata e tivesse comprado os degraus da promoção, sendo frio como o sentido de caridade de um advogado. O sacana de nariz comprido sabia como vencer e isso é que interessava.
E o que interessava agora era bater os franceses. A coluna, muito mais larga do que a primeira, surgia à frente deles, incentivada pelos tambores. Os franceses davam vivas, talvez para se incutirem confiança e deviam sentir-se encorajados pelo facto de a artilharia inglesa do outro lado do rio não os enxergar. Então, porém, provocando a aclamação dos ingleses, uma granada esférica, disparada por um obus, explodiu à frente do centro da coluna. Os artilheiros ingleses estavam a disparar às cegas, arqueando os tiros por cima do seminário, mas estavam a disparar bem e o primeiro tiro calou os vivas dos franceses.
- Só os rifles! - gritou Sharpe. - Disparem quando estiverem prontos. Poupem o couro! Hagman, atira àquele grandalhão com o sabre.
- Estou a vê-lo - disse Hagman, apontando o rifle para alvejar o oficial que vinha à frente a dar o exemplo e a pedir fruta de rifle.
- Atenção às escadas! - lembrou Sharpe aos outros.
Foi, depois, para o parapeito, pondo o pé esquerdo na cimalha e o rifle encostado ao ombro. Apontou a um homem com uma escada, alvejando a cabeça, na convicção de que a bala cairia, atingindo-o na barriga ou nas virilhas. O vento batia-lhe na cara, portanto não ia fazer derivar o tiro. Disparou e ficou de imediato cego com o fumo. Hagman disparou logo a seguir, depois houve os estampidos dos outros rifles. Os mosquetes permaneceram calados. Sharpe desviou-se para a esquerda, para conseguir ver para lá do fumo e verificou que o oficial do sabre desaparecera, como todos os outros homens atingidos pelas balas. Tinham sido engolidos pela coluna que avançava, a qual passava sobre as vítimas. Depois, Sharpe viu uma escada reaparecer, apanhada do chão por um homem da quarta ou quinta fila. Rebuscou na cartucheira por outra bala e começou a recarregar.
Ao recarregar, nem olhava para o rifle. Fazia simplesmente o que tinha sido treinado a fazer, algo que era capaz de fazer a dormir, e, quando metia a pólvora na arma, soaram os primeiros tiros de mosquete do muro do jardim, depois os mosquetes das janelas e do telhado abriram fogo e o seminário ficou, uma vez mais, envolto em fumo e em som de fuzilaria. Os canhonaços troavam por cima deles, tão perto que Sharpe, uma vez, quase se encolheu, e as granadas troavam na encosta. As balas rasgavam as fileiras francesas. Cerca de um milhar de homens encontrava-se agora no seminário, protegidos por paredes de pedra e com um amplo alvo aberto. Sharpe disparou outro tiro encosta abaixo, percorrendo depois a fila dos seus homens, a observá-los. Slattery precisava de uma pederneira e Sharpe deu-lhe uma, depois a mola do rifle de Tarrant partiu-se e Sharpe deu-lhe o rifle de Williamson, que Harper levava consigo desde que haviam partido de Vila Real de Zedes. Os tambores do inimigo soavam mais perto e Sharpe recarregou o rifle quando se começaram a ouvir os primeiros tiros de mosquete a matraquearem nas paredes do seminário.
- Eles estão a atirar às cegas - disse Sharpe aos seus homens -, atiram às cegas! Não percam os vossos tiros. Apontem bem!
O que era coisa difícil, dado o fumo que pairava sobre a encosta, mas caprichos do vento, por vezes, afastavam o nevoeiro e revelavam uniformes azuis e os franceses estavam tão perto que Sharpe lhes distinguia as caras. Apontou a um homem com um bigode enorme, disparou e perdeu o homem de vista com o fumo que saiu da boca do cano do rifle.
O barulho do combate era pavoroso. Mosquetes a matraquearem constantemente, o ribombo dos tambores, as granadas a explodirem no ar e, sob toda essa violência, ouviam-se os gritos dos homens feridos. Um casaca-vermelha rodopiou para o chão ao pé de Harper, o sangue a brotar-lhe da cabeça e a formar uma poça, até que um sargento o arrastou para fora do parapeito, deixando um rasto de vermelho-vivo na conduta de escoamento do telhado. Ao longe, tinha de ser na margem sul do rio, uma banda tocava The Drum Major e Sharpe pôs-se a bater com a coronha do rifle no chão, ao ritmo da canção. Uma vareta francesa rodopiou no ar, indo embater na parede do seminário, obviamente disparada por um soldado em pânico que puxara o gatilho sem ter limpo o cano. Sharpe lembrou-se como, na Flandres, na sua primeira batalha como casaca-vermelha e soldado raso, o mosquete de um homem não disparou, mas o homem continuou a carregar o mosquete, a puxar o gatilho, a carregar o mosquete e, quando desmancharam o mosquete depois da batalha, encontraram dezasseis cargas inúteis amontoadas no cano. Como é que se chamava o homem? Era de Norfolk, embora estivesse num regimento do Yorkshire e tratava toda a gente por ”camarada”. Sharpe não conseguiu lembrar-se do nome do homem e isso irritou-o. Uma bala de mosquete zuniu-lhe junto à cara, uma outra embateu no parapeito, partindo uma telha. Lá em baixo, no jardim, os homens de Vicente e os casacas-vermelhas nem sequer apontavam os mosquetes, limitavam-se a meter os canos nas seteiras, puxando o gatilho e logo se afastando, dando lugar a que outro utilizasse a abertura. Havia agora no jardim alguns casacas-verdes e Sharpe pensou que devia ser uma companhia do 60º Regimento, os Royal American Rifles, agregada à brigada de Hill e que se juntava ao combate. Fariam bem melhor, considerou ele, se subissem para o telhado, em vez de se porem a disparar os Bakers pelas seteiras. A árvore solitária estava esgalhada como se um vendaval tivesse passado por ela, quase sem uma única folha nos ramos partidos. O fumo pairava no meio dos galhos desnudados, continuamente abanados pelo embate de balas.
Sharpe escorvou o rifle, encostou-o ao ombro, procurou um alvo, viu um magote de uniformes azuis muito perto do muro do jardim e enfiou a bala no meio deles. O ar chiava de balas. Raisparta, porque é que os sacanas não se iam embora! Um destemido grupo de soldados franceses tentou correr ao longo da parede oeste, para alcançar o portão, mas os artilheiros ingleses do convento viram-nos e as granadas explodiram em preto e vermelho, espalhando sangue pela plataforma lajeada e pelas pedras caiadas do muro do jardim. Sharpe viu os seus homens a fazer caretas ao enfiarem as balas nos canos sujos de pólvora. Não havia tempo para limparem os rifles, limitavam-se a empurrar as balas para baixo e a puxar o gatilho. Disparavam e tornavam a disparar, os franceses faziam o mesmo, era um duelo louco de balas e, por sobre o fumo, do outro lado do vale, Sharpe viu uma horda de infantaria francesa de reforço a sair da cidade.
Dois homens em mangas de camisa percorriam o telhado com caixas de munições.
- Quem precisa? - gritavam eles, parecendo vendedores ambulantes nas ruas de Londres. - Chumbo fresco! Quem precisa? Chumbo fresco! Pólvora fresca!
Um dos ajudantes-de-campo do general Hill distribuía cantis de água pelo parapeito, enquanto o próprio Hill, corado e ansioso, permanecia junto dos casacas-vermelhas, para que os homens vissem que partilhava o perigo com eles. Agarrou o olhar de Sharpe e fez-lhe um sorriso amargo, como que a sugerir que a tarefa era muito mais árdua do que previra.
Mais tropas surgiam no telhado, homens com mosquetes frescos e cartucheiras cheias e, entre elas, vinham os fuzileiros do 60º, cujo comandante devia ter-se apercebido de que não estava no lugar certo. Dirigiu a Sharpe um gesto de companheirismo e mandou os homens para o parapeito.
As balas choviam, o fumo adensava-se, mas os franceses continuavam a tentar abrir brechas em paredes de pedra apenas com tiros de mosquete. Dois franceses conseguiram escalar o muro do jardim, mas lá em cima hesitaram e foram agarrados, atirados ao chão e espancados até à morte à coronhada. Sete casacas-vermelhas mortos jaziam também no chão do jardim, as feridas sanguinolentas a secarem lentamente e a ficarem negras, mas a maior parte dos mortos ingleses encontrava-se nos corredores do Seminário, para lá arrastados das grandes janelas, as quais constituíam o melhor alvo para os frustrados franceses.
Uma nova coluna subia agora a encosta. Vinha engrossar as fileiras dizimadas da primeira, mas, embora os homens sitiados no seminário não o pudessem saber, os recém-chegados eram o sinal da derrota francesa. O marechal Soult, desesperado por tropas frescas para atacarem o seminário, desguarnecera de infantaria a própria cidade e os habitantes do Porto, vendo-se sem guarda à vista, convergiram para o rio e arrastaram os seus barcos para fora dos armazéns, oficinas e quintais onde os ocupantes os mantinham sob vigilância. Uma flotilha de botes atravessavam agora o rio, passando pelos restos da ponte das barcas e dirigindo-se para o cais de Vila Nova de Gaia, onde a Brigada de Guardas Reais aguardava. Um oficial perscrutou ansiosamente a margem norte do Douro, certificando-se de que os franceses não estavam emboscados no cais oposto, logo depois ordenando aos homens para embarcarem. Os Guardas Reais foram transportados nos barcos para a cidade e cada vez apareciam mais barcos que se punham a trazer casacas-vermelhas para o Porto. Soult não o sabia, mas a cidade estava a ficar cheia de inimigos.
Tão-pouco os soldados que atacavam o seminário o sabiam, pelo menos até começarem a aparecer casacas-vermelhas nos limítrofes a leste da cidade, altura em que a segunda coluna subira já a encosta e se metera no inferno de morte das balas disparadas das paredes, das janelas e do telhado do Seminário. O fragor era semelhante ao de Trafalgar, onde Sharpe ficara espantado com o incessante troar das peças dos enormes navios, mas ali o som era muito mais agudo, pois as descargas dos mosquetes tendiam para um guincho lúgubre e arrepiante. A parte de cima da encosta estava ensopada de sangue e os soldados franceses sobreviventes serviam-se dos corpos dos seus camaradas mortos como protecção. Uns quantos tambores ainda tentavam fazer avançar a destroçada coluna, mas, então, soou o grito de alarme de um sargento, o grito espalhou-se e, de repente, o fumo começou a dissipar-se e a encosta a esvaziar-se de franceses, à medida que a Brigada dos Guardas Reais avançava pelo vale.
Os franceses corriam. Tinham-se batido valentemente contra paredes de pedra e mosquetes, mas agora, entrados em pânico, a disciplina desvanecia-se e eles corriam em direcção à estrada de Amarante. Outras forças francesas, cavalaria e artilharia entre elas, estavam igualmente a abandonar a parte alta da cidade, fugindo perante a corrente de casacas-vermelhas transportados através do Douro e tentando escapar à vingança dos habitantes da cidade, os quais vasculhavam ruas e travessas, atacando, com facas e cacetes, os feridos franceses que encontravam.
Soavam gemidos e urros nas ruas do Porto, mas um estranho silêncio imperava no seminário de paredes cheias de impactos de bala.
O general Hill, então, colocou as mãos em concha.
- Persigam-nos! - gritou ele. - Persigam-nos! Quero uma perseguição!
- Fuzileiros! Reúnam-se a mim! - ordenou Sharpe.
Eximiu os homens da perseguição. Tinham tido uma tarefa árdua, era altura de os deixar descansar.
- Limpem as armas - ordenou ele.
E, assim, ali ficaram os fuzileiros, enquanto os casacas-vermelhas da 1ª Brigada formavam fileiras no exterior do seminário, marchando depois para leste.
No telhado, jazia uma quantidade de mortos. Havia longas manchas de sangue, marcando o trajecto ao serem arrastados desde o parapeito. O fumo que rodeava o edifício dissipou-se lentamente e o ar ficou limpo de novo. As encostas do seminário estavam pejadas de mochilas, sacolas e corpos de soldados franceses, nem todos mortos. Um ferido rastejava por entre os cardos salpicados de sangue. Um cão farejava um cadáver. Apareciam corvos de asas negras a provarem os mortos e mulheres e crianças começaram a surgir das casas do vale para iniciarem a pilhagem. Um ferido tentou afastar-se de uma rapariguinha que não teria mais do que uns onze anos. A rapariguinha puxou de uma faca de carniceiro do avental, uma faca tantas vezes afiada que não tinha mais do que uma fina lâmina de aço agarrada a um cabo de osso, e passou-a pela garganta do francês, fazendo depois uma careta, porque o sangue lhe espirrou para o colo. A irmã mais nova arrastava seis mosquetes pela correia. Os pequenos fogos provocados pelos cartuchos fumegavam no meio dos corpos, onde o rubicundo padre, ainda com o bacamarte na mão, fazia o sinal da cruz pelos soldados franceses que ajudara a matar.
Quanto aos franceses vivos, tomados de pânico, fugiam. A cidade do Porto tinha sido reconquistada.
A carta, dirigida a Richard Sharpe, aguardava em cima do lintel da lareira da sala de estar da House Beautiful. Era um milagre a carta ter sobrevivido, pois, nessa mesma tarde, um grupo de artilheiros da Royal Artillery aboletara-se na casa e a primeira coisa que haviam feito fora partir a mobília da sala para acenderem a lareira e a carta era a coisa ideal para lhe pegar fogo. Entretanto, porém, antes de eles acenderem a lareira, chegara o capitão Hogan e conseguira salvar a carta. Tinha lá ido à procura de Sharpe e perguntara aos artilheiros se não haviam encontrado nenhuma mensagem na casa, pensando que Sharpe podia lá ter deixado alguma.
- Vivem aqui ingleses, rapazes - disse ele aos artilheiros, abrindo a carta, que não se encontrava fechada -, por isso limpem os pés e tudo o que sujarem. - Leu a curta mensagem e pensou um momento. - Por acaso, nenhum de vocês terá visto um oficial de fuzileiros, alto, do 95º? Não? Bom, se ele aparecer por aqui, digam-lhe para ir ao Palácio das Carrancas?
- Aonde, meu Capitão? - perguntou um dos artilheiros.
- É o grande edifício ao fundo da colina - explicou Hogan. - É o quartel-general.
Hogan sabia que Sharpe estava vivo, pois o coronel Walters dissera-lhe que tinha estado com ele nessa manhã, mas Hogan percorrera as ruas e não o encontrara, por isso mandara dois ordenanças em busca do transviado fuzileiro.
Uma nova ponte de barcas estava já a ser instalada no Douro. A cidade estava de novo livre e festejava o facto com bandeiras, vinho e música. Centenas de prisioneiros franceses estavam sob custódia, metidos num armazém, e uma longa fila de peças francesas capturadas estavam estacionadas no cais, onde os navios mercantes ingleses que tinham sido capturados, quando a cidade caíra, ostentavam agora, de novo, as suas insígnias. O marechal Soult e o seu exército estavam a retirar para leste, a caminho da ponte de Amarante, que os franceses tinham capturado recentemente, afortunadamente ignorando que o general Beresford, o novo comandante do exército português, tinha recapturado a ponte e estava à espera deles.
- Se não podem atravessar em Amarante - perguntava Wellesley nessa tarde -, para onde é que irão?
A questão fora colocada no salão azul do Palácio das Carrancas, onde Wellesley e o seu estado-maior tinham comido uma refeição, obviamente preparada para o marechal Soult e que se encontrava ainda quente, nos fogões do palácio. Era um prato de borrego, de que Wellesley gostava bastante, mas tão carregado de cebolas, de fatias de presunto e de cogumelos que, para ele, o sabor tinha sido completamente adulterado.
- Eu pensava que os franceses apreciavam a boa cozinha - resmungara ele, ordenando depois a um ordenança que lhe trouxesse uma garrafa de vinagre da cozinha.
Ensopara o borrego, libertando-o dos ofensivos cogumelos e das cebolas e reconhecera que o prato melhorara bastante.
Agora, levantados os restos da refeição, os oficiais debruçavam-se sobre um mapa desenhado à mão que o capitão Hogan estendera em cima da mesa. Sir Arthur colocou um dedo em cima do mapa.
- Eles querem regressar a Espanha - disse ele -, mas como? Esperava que o coronel Walters, o oficial explorador de mais elevada patente, lhe respondesse à pergunta, mas Walters não percorrera o Norte de Portugal e, por isso, o coronel fez sinal ao capitão Hogan, o oficial de mais baixa patente na sala.
Hogan, antes da invasão de Soult, passara semanas a levantar o mapa de Trás-os-Montes, as descampadas montanhas do Norte de Portugal, onde as estradas se torciam em curvas, os rios corriam caudalosos e as pontes eram poucas e estreitas. Havia mesmo tropas portuguesas a marcharem para cortarem essas pontes, negando aos franceses as estradas que os podiam levar às suas fortalezas em Espanha e Hogan apontava agora o espaço vago no mapa a norte da estrada do Porto para Amarante.
- Se tomámos Amarante, meu General, e se os nossos aliados tomarem Braga amanhã - Hogan fez uma pausa, relanceando Sir Arthur, que lhe lançou um olhar irritado -, então Soult está metido num sarilho, num grande sarilho. Terá de atravessar a Serra de Santa Catarina e lá não há estradas nessa serra.
- O que é que há por lá? - perguntou Wellesley, com o olhar fixo no espaço vazio do mapa.
- Caminhos de cabras - disse Hogan - lobos, veredas, ravinas e campo-neses furiosos. Uma vez chegado aqui, meu General - Hogan apontava um ponto a norte da serra de Santa Catarina -, vai encontrar uma estrada razoável que o pode levar a casa, mas, para lá chegar, vai ter de abandonar carroças, peças, carretas, na verdade, terá de abandonar tudo que não possa ser transportado por um homem ou por uma mula.
Trovões troaram sobre a cidade. A chuva começou a cair, logo engros-sando, tamborilando no terraço e matraqueando as altas janelas sem cortinados.
- Raio de tempo este - rosnou Wellesley, sabendo que a chuva ia abrandar a perseguição ao inimigo derrotado.
- Chove também sobre os ímpios, meu General - observou Hogan.
- Um raio que os parta a eles - empertigou-se Wellesley.
Não sabia bem se gostava de Hogan, que tinha herdado de Cradock. Para começar, o raio do homem era irlandês, o que fazia recordar a Wellesley que ele próprio nascera na Irlanda, uma circunstância de que não se orgulhava muito. Depois, não era, decididamente, bem-nascido e Sir Arthur gostava dos oficiais que provinham de boas famílias, embora reconhecesse que o preconceito era irracional e começasse a desconfiar que aquele Hogan de ar sereno era bastante competente e o coronel Walters, em quem muito confiava, lhe falasse do irlandês em termos encomiásticos.
- Portanto - fez Wellesley o ponto da situação -, eles encontram-se na estrada que vai daqui para Amarante, não podem voltar para trás sem nos enfrentar, não podem avançar sem encontrarem Beresford e têm de seguir para norte através das montanhas. E para onde é que eles vão depois disso?
- Para esta estrada aqui, meu General - respondeu Hogan, apontando um lápis no mapa. - É uma estrada que vai de Braga a Chaves e, se ele conseguir passar por Ponte Nova e alcançar Ruivães, uma aldeia que fica aqui
- Hogan fez uma pausa para marcar a lápis um ponto no mapa -, depois tem um caminho rural que o leva para norte, através das montanhas, até Montalegre, uma vila que fica muito perto da fronteira.
Os ajudantes de Sir Arthur amontoavam-se todos em redor da mesa, olhos postos no mapa, embora um homem, uma fraca figura de tez pálida, elegantemente vestido à civil, nada parecendo interessado no que se passava, se limitasse a ficar estendido numa poltrona, dando a insultuosa impressão de estar maçado com toda aquela conversa de mapas, estradas, montanhas e pontes.
- Mas esta estrada, meu General - prosseguiu Hogan, marcando com o lápis um traço no mapa, entre Ponte Nova e Montalegre -, é um verdadeiro inferno. É toda às curvas e, para se avançar um quilómetro, tem de se andar uma légua. E, pior ainda, meu General, atravessa uma série de rios, pequenos, mas caudalosos e de margens escarpadas, o que quer dizer com pontes muito altas. Se os portugueses lhe cortarem uma dessas pontes, então Monsieur Soult está perdido, meu General. Fica encurralado. Tem de fazer os homens subirem as montanhas e vai ter o diabo sempre atrás dele.
- Que Deus apresse os portugueses - exclamou Wellesley, de cenho carregado ao som da chuva, pois sabia que ela ia retardar os aliados, os quais avançavam para o interior, com a intenção de fustigarem as estradas pelas quais os franceses podiam alcançar a Espanha. Já lhes tinham cortado o caminho em Amarante, mas agora tinham de avançar mais para norte, enquanto o exército de Wellesley, incentivado com o triunfo no Porto, iria perseguir o exército francês. Os ingleses eram os batedores que empurravam a caça para as armas dos portugueses.
Wellesley fixou os olhos no mapa.
- Foi você que desenhou este mapa, Hogan?
- Fui, sim, meu General?
- E podemos confiar nele?
- Pode, sim, meu General.
Sir Arthur resmungou. Se não fora o tempo, pensou ele, agarrava Soult e o que restava do exército dele, mas a chuva tornava a perseguição extremamente difícil, o que significava que, quanto mais cedo começasse, melhor, por isso, os ajudantes-de-campo foram enviados com ordens para pôr o exército em marcha ao alvorecer. Depois, expedidos os ajudantes, Sir Arthur bocejou. Precisava urgentemente de dormir e ia retirar-se quando a enorme porta do salão azul se abriu e um atirador encharcado, maltrapilho e com a barba por fazer entrou. Ao ver o general Wellesley, pareceu ficar surpreendido e, instintivamente, ficou em sentido.
- Santo Deus! - disse Wellesley, irritado.
- Acho que conhece o tenente... - começou Hogan.
- Claro que conheço o tenente Sharpe - estourou Wellesley -, mas o que eu quero saber é que raio faz ele aqui? O 95º não veio connosco.
Hogan afastou as velas colocadas aos cantos do mapa e deixou-o enrolar-se.
- A culpa é minha, Sir Arthur - disse ele calmamente. - Eu encontrei o tenente Sharpe e os seus homens a vaguearem como ovelhas perdidas e tomei-os ao meu cuidado e, desde então, eles escoltaram-me nas minhas deambu-lações à fronteira. Sozinho, eu não conseguiria haver-me com as patrulhas francesas, Sir Arthur, e o tenente Sharpe foi-me muito útil.
Wellesley, enquanto Hogan apresentava as explicações, tinha os olhos fixos em Sharpe.
- Perdeu-se? - perguntou ele friamente.
- Perdi o contacto, meu General - disse Sharpe.
- Durante a retirada para a Corunha?
- Sim, meu General - disse Sharpe.
Na verdade, a unidade dele retirara para Vigo, mas a distinção não era importante e Sharpe há muito que aprendera a dar aos oficiais superiores respostas tão breves quanto possível.
- Então, onde é que raio tem andado estas últimas semanas? - perguntou Wellesley acidamente. - Andou a vadiar?
- Andei, sim, meu General - disse Sharpe, o estado-maior constrangido, perante o ar de insolência que pairou na sala.
- Eu ordenei ao tenente Sharpe que procurasse uma jovem inglesa que se perdera, meu General - apressou-se Hogan a explicar. - Na verdade, ordenei-lhe que acompanhasse o coronel Christopher nessa busca.
A menção daquele nome foi como que um estalar de chicote. Ninguém falou, embora o jovem à civil, que fingira dormir na poltrona e que abrira os olhos com surpresa quando o nome de Sharpe fora pela primeira vez mencio-nado, prestasse agora redobrada atenção. Ele era um jovem penosamente magro, e pálido, como se tivesse medo do sol, com algo felino, quase feminino, na aparência delicada. A roupa era tão elegante que melhor ficaria numa sala de estar ou num salão de Paris, mas ali, no meio dos uniformes sujos e dos oficiais queimados do sol, parecia um cãozinho de luxo no meio de galgos de caça. Estava agora sentado muito direito, os olhos fitos em Sharpe. Wellesley rompeu o silêncio.
- O coronel Christopher? Esteve, então, com ele? - perguntou a Sharpe.
- O general Cradock ordenou-me que permanecesse junto dele, meu General - disse Sharpe, tirando a ordem de Cradock da sacola e colocando-a em cima da mesa.
Wellesley nem sequer olhou para o papel.
- Mas que raio andou Cradock a fazer? - lançou ele. - Christopher nem sequer é um oficial a valer, é um raio de um lacaio do Foreign Office.
As últimas palavras foram atiradas ao jovem pálido que, em vez de responder, fez um gesto vago com os dedos da mão direita. Agarrou o olhar de Sharpe e transformou o gesto num pequeno aceno de saudação e Sharpe apercebeu-se, com um sobressalto de reconhecimento, que se tratava de Lorde Pumphrey, com quem tinha estado em Copenhaga. Lorde Pumphrey, sabia Sharpe, era uma personagem misteriosamente proeminente no Foreign Office, mas Pumphrey não avançou nenhuma razão para a sua presença no Porto, enquanto Wellesley pegava na ordem do general Cradock, a lia e atirava, de novo, o papel para cima da mesa.
- E o que é que Christopher lhe ordenou que fizesse? - perguntou ele a Sharpe.
- Ordenou-me que ficasse num sítio chamado Vila Real de Zedes, meu General.
- A fazer lá o quê?
- Ser morto, meu General.
- Ser morto? - perguntou Sir Arthur, num tom perigoso.
Achava que Sharpe estava a ser impudente e, embora o atirador lhe tivesse salvo a vida uma vez, era muito bem capaz de o castigar.
- Ele levou uma força francesa para a aldeia, que nos atacou.
- Não muito eficazmente, pelos vistos - disse Wellesley, sarcástico.
- Não, nem por isso, meu General - concordou Sharpe -, mas eram uns mil e duzentos homens, meu General, e nós apenas sessenta.
Não disse mais nada e estabeleceu-se o silêncio na sala, enquanto as pessoas comparavam os números. Vinte para um! Soou novo trovão e um rasto de luz iluminou o céu a oeste.
- Mil e duzentos, Richard? - perguntou Hogan, num tom que sugeria que Sharpe devia baixar o número.
- Eram talvez mais, meu Capitão - disse Sharpe estoicamente - Quem nos atacou foi o 31º Regimento de Infantaria Ligeira, mas apoiados por, pelo menos, um regimento de Dragões e por um obus. Apenas um, meu Capitão, e nós corremos com eles.
Calou-se e ninguém falou, mas Sharpe lembrou-se que não prestara jus ao seu aliado e dirigiu-se, de novo, a Wellesley.
- Eu tinha comigo o tenente Vicente, meu General, do 18º Regimento português e os trinta homens dele prestaram-nos um grande auxílio, mas lamento informar que ele perdeu uns dois homens e eu perdi outros dois. E um dos meus homens desertou, meu General, o que também lamento.
Houve outro silêncio, agora mais prolongado, durante o qual os oficiais olhavam para Sharpe e Sharpe tentava contar as velas em cima da mesa. Depois, Lorde Pumphrey rompeu o silêncio.
- Está a dizer-nos, Tenente, que Mister Christopher conduziu as tropas que o atacaram?
- Sim, Vossa Senhoria. Pumphrey sorriu.
- Foi ele que as levou, ou terá sido levado por elas?
- Foi ele que as levou - disse Sharpe firmemente. - E, depois, teve o desplante de subir à montanha onde nos encontrávamos, a dizer-nos que a guerra tinha acabado e que devíamos descer e permitir que os franceses tomassem conta de nós.
- Muito obrigado, Tenente - disse Pumphrey, com exagerada civilidade.
Houve outro silêncio, depois o coronel Walters limpou a garganta.
- Recordo-lhe, meu General - disse ele mansamente -, que foi o tenente Sharpe que nos proporcionou a nossa armada, esta manhã.
Por outras palavras, Walters sugeria a Sir Arthur Wellesley que devia demonstrar alguma gratidão,
Sir Arthur, porém, não estava na disposição de se mostrar grato, limitando-se a manter o olhar fixo em Sharpe e, então, Hogan lembrou-se da carta resgatada na House Beautiful e tirou-a do bolso.
- Isto é para si, nosso Tenente - disse ele, estendendo a carta a Sharpe mas, como estava aberta, eu tomei a liberdade de a ler.
Sharpe abriu a carta.
- Ele vai seguir com os franceses - leu Sharpe - e força-me a acompanhá-lo, mas eu não quero ir.
Estava assinada por Kate e tinha sido escrita, claramente, numa pressa chorosa.
Esse ele, presumo eu, é o Christopher? - perguntou Hogan. É, sim, meu Capitão.
E a razão da ausência de Miss Savage em Março - prosseguiu Hogan era também o coronel Christopher?
- Era, sim, meu Capitão.
- Ela está apaixonada por ele?
- Ela casou com ele - disse Sharpe, ficando intrigado porque Pumphrey parecia espantado.
- Umas semanas antes - Hogan falava agora para Wellesley - o coronel Christopher cortejava a mãe de Miss Savage.
- Essas ridículas histórias de amor ajuda-nos alguma coisa a saber o que o Christopher anda agora a fazer? - perguntou Sir Arthur asperamente.
- Que mais não seja, isso é muito interessante - disse Pumphrey, que se ergueu da poltrona, sacudiu uma mancha de pó de um punho e sorriu para Sharpe. - Tem a certeza de que o Christopher casou com essa jovem?
- Casou, sim, Vossa Senhoria.
- Então, portou-se mal - disse Lorde Pumphrey, com ar de regozijo -, pois ele já era casado. - Sua senhoria apreciou plenamente o efeito da revelação. - Ele casou com a filha de Pearce Courtnell há dez anos, na feliz convicção de que ela valia oitocentas libras anuais, para depois descobrir que ela nada valia. Não é, segundo dizem, um casamento feliz e eu diria, Sir Arthur, que as notícias que o tenente Sharpe nos traz dão resposta às perguntas que pomos quanto à lealdade do coronel Christopher.
- Acha que sim? - perguntou Wellesley, intrigado.
- O Christopher sabe que não pode sobreviver a um casamento bígamo, se se quiser estabelecer em Inglaterra e num Portugal livre - observou Lorde Pumphrey. - Mas em França? Ou num Portugal governado pela França? Os franceses não se vão preocupar com quantas mulheres ele deixou em Londres.
- Mas disse-me que ele queria voltar.
- Eu expus uma conjectura de que ele era capaz de desejar isso - corrigiu Pumphrey o general. - Ele tem andado, afinal, a jogar com os dois lados e, se achar que nós estamos a vencer, então vai querer voltar, sem dúvida nenhuma e, igualmente sem sombra de dúvida, vai negar que alguma vez tenha casado com Miss Savage.
- Ela pode ter uma opinião diferente - observou Wellesley secamente.
- Se estiver viva para a afirmar, o que eu duvido - disse Pumphrey. Não, Sír Arthur, não podemos confiar nele e ouso dizer que os meus directores em Londres muito gratos ficariam se o removesse de funções.
- É o que você pretende?
- Não, não é o que eu pretendo - retorquiu Pumphrey a Wellesley e, para um homem de aparência tão delicada e tão frágil, fê-lo com considerável firmeza. - Mas é o que Londres desejaria.
- Tem a certeza disso? - perguntou Wellesley, nitidamente contrafeito com a insinuação de Pumphrey.
- Ele dispõe de informação que muito nos pode embaraçar - admitiu Pumphrey -, incluindo códigos do Foreign Office.
Wellesley soltou a sua grande gargalhada de relincho de cavalo.
- Provavelmente, já os cedeu aos franceses.
- Duvido, Sir Arthur - disse Pumphrey, examinando as unhas das mãos com um ligeiro franzir do sobrolho. - Uma pessoa, geralmente, guarda os seus melhores trunfos até às últimas. E, no fim, o Christopher vai querer negociar, connosco ou com os franceses, e devo dizer-lhe que ao governo de Sua Majestade não lhe agrada nenhuma das duas eventualidades.
- Nesse caso, entrego o destino dele nas suas mãos, meu caro Lorde disse Wellesley, com óbvia má vontade -, e, como se trata de um trabalho sujo, é melhor eu ceder-lhe os serviços do capitão Hogan e do tenente Sharpe. Quanto a mim, vou meter-me na cama.
Inclinou a cabeça cortesmente e saiu da sala, seguido pelos ajudantes-de-campo, estes sobraçando maços de papéis.
Lorde Pumphrey pegou numa garrafa de vinho verde de cima da mesa e dirigiu-se para a sua poltrona, onde se sentou com um suspiro exagerado.
- Sir Arthur provoca-me arrepios - disse ele e fingiu não se aperceber da expressão chocada, tanto de Sharpe, como de Hogan. - Você salvou-lhe realmente a vida na índia, Richard?
Sharpe não disse nada e Hogan respondeu por ele.
- É por isso que ele trata Sharpe tão mal - disse o irlandês. - Orgulhoso como é, não suporta estar em dívida para com ninguém, especialmente não suporta estar em dívida para com um bastardo vagabundo como Sharpe. Pumphrey teve um arrepio.
- Sabem o que é que nós, os do Foreign Office, mais detestamos? É sairmos para países estrangeiros. São tão desconfortáveis! Mas aqui vim eu parar e acho que temos de nos entregar à nossa missão.
Sharpe atravessara o salão até uma das altas janelas e estava a olhar para escuridão molhada.
- Qual é a minha missão? - perguntou ele.
Lorde Pumphrey encheu liberalmente um copo de vinho verde.
- Para não estar a dourar a pílula, Richard - disse ele -, o seu dever é procurar Mister Christopher e, quando o encontrar...
Não terminou a frase, em vez disso passou um dedo pela garganta, um gesto que Sharpe viu reflectido na janela escura.
- Quem é, afinal, o Christopher? - quis Sharpe saber.
- Ele era um intruso no Foreign Office, Richard - disse Pumphrey, a voz ácida de desaprovação -, um intruso muito esperto.
Um intruso era um homem que, nas caçadas de montaria, forçava o anda-mento do cavalo à chicotada, para se chegar à cabeça da caçada, perturbando dezenas de outros caçadores.
- Contudo, considerava-se que tinha à sua frente um futuro brilhante prosseguiu Pumphrey -, se conseguisse refrear a tendência para complicar as coisas. Ele gosta de intrigas, esse Christopher. O Foreign Office, necessaria-mente, trata de questões secretas e ele adorava dedicar-se a isso. Apesar de tudo, porém, reconheciam-se-lhe méritos de excelente diplomata e, no ano passado, fora enviado para cá, para avaliar a disposição dos portugueses. Havia rumores, felizmente infundados, de que uma larga maioria das pessoas, especialmente aqui no Norte, nutriam uma certa simpatia pelos franceses e o Christopher foi, meramente, encarregado de avaliar a extensão dessa simpatia.
- A embaixada não podia fazer isso? - perguntou Hogan.
- Não o poderia fazer sem se tornar notada - disse Pumphrey - e, sobretudo, sem eventualmente ofender uma nação que é, afinal de contas, o nosso mais antigo aliado. E eu desconfio que, se se encarrega um elemento de uma embaixada de fazer perguntas, as respostas que obtém são as que as pessoas pensam que esse elemento quer ouvir. Não, o Christopher devia fazer-se passar por um mero cidadão inglês a viajar pelo Norte de Portugal, mas, como verificaram, a oportunidade subiu-lhe à cabeça. Cradock andava, então, meio tonto, a ponto de o graduar em coronel, e o Christopher começou a tecer a sua trama. - Lorde Pumphrey lançou um olhar ao tecto do salão, pintado com divindades orgíacas e ninfas dançarinas. - Eu suspeito que Mister Christopher tem andado a apostar em todos os cavalos da corrida. Sabemos que ele enco-rajou um motim, mas desconfio muito que ele terá atraiçoado os amotinados. O encorajamento serviu para nos convencer que defendia os nossos interesses e a traição tornou-o benquisto dos franceses. Está decidido, não há dúvida nenhuma, em ficar do lado dos vencedores. Mas a intriga principal, torna-se óbvio, era enriquecer à custa das senhoras Savage.
- Pumphrey fez uma pausa, ficando, depois, com um sorriso seráfico nos lábios. - Eu sempre admirei bastante os bígamos. Para mim, uma mulher seria já de mais, mas que haja homens capazes de aturarem duas!
Não o ouvi eu dizer que ele pretende voltar? - perguntou Sharpe. É o que eu penso. O James Christopher não é homem para cortar as suas amarras, a não ser que não tenha alternativa. Sim, sim, estou certo de que ele imaginará uma maneira de regressar a Londres, se verificar que não é bem sucedido com os franceses.
- Portanto, estou encarregado de dar um tiro na merda desse sacana disse Sharpe.
- Não é precisamente como nós, no Foreign Office, poríamos a questão disse Lorde Pumphrey severamente -, mas vejo que percebeu o essencial. Avance e dê-lhe um tiro, Richard, e que Deus lhe abençoe o rifle.
- E o que é que anda aqui a fazer? - lembrou-se Sharpe de perguntar.
- Para além de andar muito desconfortável - disse Pumphrey -, fui enviado para supervisionar o Christopher. Ele contactou o general Cradock com notícias do possível motim e o Cradock, muito correctamente, comunicou o caso a Londres e o Governo ficou todo excitado com a ideia de aliciar o exército de Napoleão em Portugal e em Espanha, mas achou que, para impulsionar o esquema, era necessário alguém com alguma prudência e são julgamento e, muito naturalmente, pediram-me que viesse cá.
- E, agora, podemos esquecer os esquemas - observou Hogan.
- Sem dúvida nenhuma - confirmou Pumphrey asperamente. - Christopher levou com ele um tal capitão Argenton, quando foi falar com o Cradock - explicou ele a Sharpe -, e quando este foi substituído, Argenton atravessou as linhas por sua conta e risco para falar com Sir Arthur. Queria a promessa de que as nossas forças não interviriam, caso surgisse um motim no exército francês, mas Sir Arthur não quis ouvir falar de motins e disse-lhe para meter o rabo entre as pernas e voltar para donde viera. Portanto, não há motins, não há mensageiros misteriosos embuçados e de punhal à cinta, há apenas operações militares à moda antiga. Pelo que parece eu não sou aqui necessário e Mister Christopher, a acreditarmos na nota da sua amiga, partiu com os franceses, o que significa, acho eu, que ele acredita que eles ainda podem ganhar esta guerra.
Hogan abrira uma janela para cheirar a chuva, mas voltava-se, agora, para Sharpe.
- Temos de ir embora, Richard. Temos de planear as coisas.
- Sim, meu Capitão. - Sharpe agarrou no quépi amolgado, tentando endireitar-lhe a pala, depois pensou noutra coisa. - Minha Senhoria?
- Sim, Richard?
- Lembra-se de Astrid? - perguntou Sharpe, desajeitado.
- Claro que me lembro da bela Astrid - respondeu Pumphrey mansamente -, a graciosa filha de Ole Skowgaard.
- Gostava de saber se terá tido notícias dela - disse Sharpe, ruborizado. Lorde Pumphrey tinha, de facto, notícias dela, mas não eram notícias que lhe agradasse dar a Sharpe, pois tanto Astrid como o pai estavam sepultados, com as goelas cortadas por ordem de Pumphrey.
- Ouvi dizer - disse ele gentilmente - que houve uma epidemia em Copenhaga, de malária, acho eu. Ou seria de cólera? Sei lá, Richard - terminou ele, abrindo as mãos.
- E ela morreu.
- Receio bem que sim.
- Oh! - exclamou Sharpe.
Ficou aturdido, a pestanejar. Tinha pensado, em tempos, que podia largar o exército e ir viver com Astrid, iniciando uma nova vida nos campos asseados da Dinamarca.
- Lamento - disse ele por fim.
- Também eu - disse Pumphrey com todo o à-vontade -, lamento mesmo muito. Mas diga-me uma coisa, Richard, essa Miss Savage, podemos dizer que é uma jovem bonita?
- É, sim - disse Sharpe -, é muito bonita.
- Era o que eu pensava - disse Lorde Pumphrey resignadamente.
- E ela pode morrer - lançou Hogan a Sharpe -, se não nos apressarmos.
- Sim, meu Capitão - disse Sharpe, apressando-se.
Hogan e Sharpe caminharam à chuva, subindo a colina, até uma escola que Sharpe havia requisitado para alojar os seus homens.
- Você sabe, decerto - disse Hogan, todo irritado -, que Lorde Pumphrey é um pederasta?
- Claro que sei que ele é um pederasta.
- E pode ser enforcado por isso - observou Hogan com satisfação indecente.
- Mesmo assim eu gosto dele - disse Sharpe.
- Ele é uma serpente. Todos os diplomatas o são, ainda mais que os advogados.
- Mas não é nada soberbo - disse Sharpe.
- Consigo talvez não - disse Hogan - porque não há nada que ele mais deseje do que agarrar-se a si, Richard. - Hogan. riu-se, de novo bem-disposto.
- E como é que vamos descobrir a pobre rapariga e o seu malvado marido?
- Vamos? - perguntou Sharpe. - O meu Capitão vai comigo?
- Este é um assunto demasiado importante para ficar nas mãos de um simples tenente inglês - disse Hogan. - É uma missão que exige a sagacidade de um irlandês.
Chegados à escola, Sharpe e Hogan instalaram-se na cozinha, onde os ocupantes franceses da cidade tinham deixado uma mesa intacta e, como deixara o seu mapa no quartel-general de Sir Arthur, Hogan utilizou um pedaço de carvão para desenhar uma tosca versão do mapa no tampo liso da mesa. Da maior das salas de aulas, onde os homens de Sharpe haviam estendido os cobertores, veio o som de risos de mulheres. Os seus homens, pensou Sharpe, não havia ainda um dia que estavam na cidade e já tinham arranjado uma dúzia de mulheres,
- É a melhor forma de aprendermos a língua, meu Tenente - garantira-lhe Harper -, e nós somos todos muito pouco instruídos, como calcula, meu Tenente.
- Veja! - disse Hogan, fechando a porta da cozinha com um pontapé. Olhe para o mapa, Richard.
Mostrou-lhe como os ingleses haviam avançado pelo litoral e desalojado os franceses do Porto e como, simultaneamente, o exército português atacara a leste.
- Eles reconquistaram Amarante - disse Hogan - e ainda bem, porque, assim, Soult não pode atravessar a ponte. Ele está encurralado, Richard, está encurralado e só tem uma alternativa. Tem de seguir para norte através das montanhas, onde vai encontrar uma estrada terrível - o pedaço de carvão partiu-se, quando ele traçou uma linha ondulada no tampo da mesa -, uma estrada cheia de curvas e, se os portugueses conseguirem avançar com este tempo horroroso, então vão cortar-lhe a estrada aqui. - O carvão fez uma cruz. - É uma ponte chamada Ponte Nova. Lembra-se dela?
Sharpe abanou a cabeça. Tinha visto tantas pontes e tantas estradas de montanha com Hogan que não conseguia lembrar-se qual era aquela.
- Apesar do nome - disse Hogan -, Ponte Nova deve ser tão velha como as montanhas e um barril de pólvora bastará para a atirar ravina abaixo e então, Richard, Monsieur Soult fica completamente lixado. Mas só fica lixado se os portugueses conseguirem lá chegar antes dele.
Hogan ficou com um ar sombrio, pois o tempo não era nada propício a uma marcha forçada através das montanhas.
- E se os portugueses não puderem travar Soult na Ponte Nova, têm ainda a possibilidade de o agarrar no Saltador. Lembra-se do Saltador, não se lembra?
- Do Saltador lembro-me, sim, meu Capitão - disse Sharpe.
O Saltador era uma ponte no alto das montanhas, uns palmos de pedra sobre uma garganta estreita e funda e tinham posto ao arco espectacular o nome de Saltador. Sharpe lembrava-se de Hogan o inscrever num mapa, lembrava-se de uma pequena aldeia com umas quantas casas baixas de pedra, mas, principalmente, lembrava-se do rio a rugir e a saltar numa corrente caudalosa, lá muito em baixo, sob a ponte alada.
- Se conseguirem chegar ao Saltador e atravessá-lo - disse Hogan -, então podemos despedirmo-nos deles e desejar-lhes boa sorte. Nesse caso, estarão safos. - Hesitou, quando o troar de um trovão lhe recordou o tempo. – Bom - suspirou ele -, só podemos fazer o melhor que pudermos.
- Mas, afinal, o que é que vamos fazer? - quis Sharpe saber.
- Bom, Richard, essa é uma boa pergunta - disse Hogan. Aspirou uma pitada de rapé, fez uma pausa e depois espirrou. - Deus tenha piedade de mim, mas os médicos dizem que isto limpa os canais brônquicos, seja lá isso o que for. Bem, segundo eu encaro a situação, duas coisas podem acontecer. - Hogan apontou a marca de carvão, indicando Ponte Nova. - Se os franceses forem travados nesta ponte, a maior parte vai render-se, pois não têm alternativa. Alguns, claro, meter-se-ão às montanhas, mas vão encontrar camponeses por todo o lado, ansiosos por cortarem gargantas e outras partes do corpo. E nós, ou encontramos Mister Christopher no meio do exército rendido ou, mais provavelmente, ele vai fugir e põe-se a dizer que é um inglês prisioneiro. E, nesse caso, metemo-nos nós também às montanhas, apanhamo-lo e encostamo-lo a um muro.
- Acha que sim?
- Isso incomoda-o?
- Eu preferia enforcá-lo.
- Ah! Bom, decidimos isso quando chegar a altura. A segunda coisa que pode acontecer, Richard, é os franceses não serem travados na Ponte Nova e nesse caso temos de seguir para o Saltador.
- E então?
- Pense bem, Richard - disse Hogan. - Uma ravina funda, encostas íngremes por todo o lado, o género de sítio onde um punhado de fuzileiros seriam mortíferos. Os franceses estão a atravessar a ponte, nós vemo-lo e os seus rifles Baker têm de fazer o que devem.
- E podemos aproximar-nos? - perguntou Sharpe, tentando recordar-se da conformação do terreno em volta da ponte do Saltador
- Podem, sim. São tudo colinas e escarpas. Acho que podem colocar-se a uma distância de uns cento e cinquenta metros.
- Isso basta - disse Sharpe, sério.
- Portanto, de uma maneira ou de outra, temos de acabar com ele - disse Hogan, recostando-se. - Ele é um traidor, Richard. Talvez não seja tão perigoso como ele pensa que é, mas se consegue chegar a Paris, os franceses vão sacar-lhe tudo da cabeça e vão ficar a saber coisas que é melhor que não saibam. E se consegue voltar a Londres, é suficientemente matreiro para convencer aqueles tontos de que esteve sempre a defender-lhes os interesses. Em suma, Richard, digo-lhe que o melhor é vê-lo morto.
- E Kate?
- Nós não a vamos matar - disse Hogan, com ar desaprovador.
- Voltando a Março, meu Capitão - disse Sharpe -, deu-me ordens de a resgatar. Essas ordens mantêm-se?
Hogan olhou para o tecto, enegrecido de fumo e com ganchos de aspecto letal.
- Pouco tempo desde que o conheço, Richard - disse ele -, tenho notado que você tem uma certa tendência para envergar uma armadura brilhante e pôr-se a salvar damas. O rei Artur, Deus tenha a sua alma em descanso, teria gostado muito de si e tê-lo-ia mandado bater-se com todos os cavaleiros maus da floresta. É assim tão importante salvar Kate Savage? Nem por isso. O importante é punir Mister Christopher e receio bem que Kate terá de seguir o seu destino.
Sharpe olhou para o mapa.
- Como é que vamos chegar a Ponte Nova?
- Caminhando, Richard, caminhando. Vamos atravessar montanhas e os caminhos são inadequados para cavalos. Passaríamos metade do tempo a puxá-los pela arreata, a alimentá-los, a tratar-lhes dos cascos e a arrependermo-nos de os termos levado. Mulas talvez, podíamos levar umas mulas, mas aonde é que vamos encontrar mulas a estas horas da noite? Ou com mulas, ou a pé, de qualquer modo vamos levar poucos homens, só os melhores e mais em forma, e temos de partir antes da alvorada.
- O que é que eu faço ao resto dos meus homens? Hogan pensou uns momentos.
- Eles podem ser úteis ao major Potter - sugeriu ele - a guardarem os prisioneiros.
- Eu não os quero perder, se os mandam regressar a Shomcliffe - disse Sharpe.
Receava que o batalhão andasse a inquirir acerca dos fuzileiros perdidos. Podiam não se preocupar muito com o tenente Sharpe, mas a ausência de um punhado de fuzileiros peritos era decididamente, preocupante.
- Meu caro Richard - disse-lhe Hogan -, se pensa que Sir Arthur vai querer perder bons fuzileiros, então não o conhece tão bem como pensa que conhece. Ele tudo fará para os manter por cá. E nós temos de nos despachar para alcançarmos Ponte Nova antes de toda a gente.
- Os franceses levam-nos um dia de avanço.
- Não levam, não. Eles correram como loucos para Amarante, o que quer dizer que não sabiam que os portugueses já a haviam recuperado. Nesta altura já se terão dado conta da situação, mas duvido que se ponham a caminho antes da alvorada. Se nos apressarmos, vamos passar-lhes à frente.
- Hogan franziu o cenho, ao olhar para o mapa. - Vejo apenas um problema nisto tudo, para além do problema que é descobrirmos Mister Christopher.
- Um problema?
- Sim, porque eu consigo chegar a Ponte Nova pela estrada de Braga disse Hogan -, mas, e se os franceses já tiverem alcançado essa estrada? Teremos de seguir pelas montanhas, mas é terreno agreste, Richard, e podemos perder-nos. Precisamos de um guia e temos de o arranjar de imediato. Sharpe sorriu-se.
- Se não se importa de viajar com um oficial português que se considera um filósofo e um poeta, acho que conheço o homem ideal.
- Eu sou irlandês - ripostou Hogan -, não há nada de que gostemos tanto como de filosofia e de poesia.
- Ele é, também, advogado.
- Se ele nos levar a Ponte Nova - disse Hogan -, Deus vai, decerto, perdoar-lhe esse pecado.
As risadas das mulheres eram constantes, mas era altura de pôr termo à festa. Era altura de uma dúzia dos melhores homens de Sharpe se porem a consertar as botas e a encher as cartucheiras.
Era chegada a altura da vingança.
Kate sentou-se a um dos cantos da carruagem e pôs-se a chorar. A carruagem não ia chegar a lado nenhum. Nem era uma boa carruagem, muito mais incómoda do que a frágil charrete da Quinta, abandonada no Porto, e nada tinha a ver com aquela em que a mãe dela atravessara o rio, em Março. Como Kate gostaria, agora, de ter seguido com a mãe, mas fora tomada de amores, fora tomada por uma paixão que lhe ia proporcionar céus dourados, horizontes claros e felicidade infinita.
Ao invés disso, encontrava-se num trem de duas rodas, com um tecto a escorrer água, molas gastas e um cavalo meio manco. E a viatura não ia a lado nenhum porque o exército francês em retirada estava encurralado na estrada de Amarante. A chuva martelava no tecto, escorria pelas janelas, caía no colo de Kate e ela não ligava, apenas se encolhia toda no canto e chorava. A porta abriu-se e Christopher meteu a cabeça lá dentro.
- Vai haver uns estoiros - disse-lhe ele -, mas não há razão para te assustares. - Fez uma pausa, decidiu que não conseguia suportar o choro dela e fechou a porta, abrindo-a de novo logo de seguida. - Eles estão a danificar as peças - explicou ele -, daí os estrondos que vais ouvir.
Kate queria lá saber. Só pensava no que lhe iria acontecer e o horror do que antevia era tão aterrador que nova torrente de lágrimas se soltou, quando as peças foram disparadas boca de cano a boca de cano.
Na manhã seguinte à da queda do Porto, Soult fora acordado com a chocante notícia de que o exército português recuperara Amarante e de que, portanto, caíra nas mãos do inimigo a única ponte por onde poderia levar para as fortalezas francesas em Espanha as peças de artilharia, as carretas, os caixotões e as carruagens. Alguns mais ousados haviam sugerido abrirem caminho pelo rio Tâmega, mas os exploradores relataram que o exército português ocupava em força Amarante, que a ponte tinha sido minada, que havia uma dúzia de peças a dominar a estrada, que ia levar pelo menos um dia de duros combates para fazerem a travessia e que, depois, era muito provável que não houvesse ponte, pois os portugueses iam sem dúvida nenhuma destruí-la. E Soult não podia dispor de um dia. Sir Arthur Wellesley ia avançar do Porto, por isso só tinha uma decisão a tomar, a qual era abandonar todos os veículos de rodas do exército, todas as carroças, todas as carretas, todos os armões, todas as carruagens, todas as forjas móveis, todas as peças. Teriam de deixar tudo isso para trás e vinte mil homens combatentes, mais cinco mil de apoio, quatro mil cavalos e outras tantas mulas teriam de pôr-se a escalar montanhas o melhor que pudessem.
Soult, porém, não ia entregar ao inimigo armas em bom estado, para ele as voltar contra si. As peças foram, pois, carregadas com dois quilos de pólvora e duas balas cada uma e colocadas com boca de cano contra boca de cano. Os artilheiros labutaram para manter os bota-fogos acesos no meio da chuva e, depois, à voz de comando, lançaram fogo aos dois rastilhos, a pólvora inflamou-se para dentro das câmaras sobrecarregadas, as peças disparam uma para dentro da outra, recuaram numa violenta explosão de fumo e de chamas e ali ficaram com os canos rebentados e todos torcidos. Alguns dos artilheiros choravam, quando destruíam as suas peças, enquanto outros praguejavam ao abrirem com navalhas e baionetas os sacos de pólvora, depois abandonados à chuva.
À infantaria foi ordenado que despejassem sacolas e mochilas de tudo o que não fossem alimentos e munições. Alguns oficiais procederam a revistas e ordenaram aos soldados que abandonassem os objectos pilhados na campanha. Cutelaria, castiçais, salvas de prata, tudo tinha de ser abandonado à beira da estrada. Os cavalos, bois e mulas que puxavam as peças, carretas e carruagens foram abatidos. Os animais relinchavam e debatiam-se ao morrer. Os feridos que não podiam andar foram deixados nas carroças, munidos de mosquetes, para ao menos tentarem defender-se dos portugueses que bem depressa os iriam encontrar e neles exercer a sua vingança. Soult mandou colocar, à beira da estrada, onze barricas cheias de moedas de prata, para os homens, ao passarem, tirarem cada um uma mão-cheia delas. As mulheres erguiam as saias, enchiam-nas de moedas e marchavam ao lado dos homens. Os dragões, hussardos e caçadores levavam os cavalos pelas rédeas. Milhares de homens e de mulheres trepavam as montanhas maninhas, deixando ficar para trás carroças cheias de garrafas de vinho do Porto, de cruzes de ouro roubadas nas igrejas e de quadros ancestrais, pilhados das paredes das grandes casas do Norte de Portugal. Os soldados franceses pensavam que tinham conquistado um país, julgavam que estavam simplesmente à espera de reforços para engrossarem as fileiras e marcharem sobre Lisboa e ninguém compreendia como é que, de súbito, se viam confrontados com a derrota e com o Rei Nicolau a conduzi-los numa retirada desastrosa debaixo de chuva.
- Se ficares aqui - dizia Christopher a Kate -, vais ser violada.
- Eu tenho vindo a ser violada noite após noite - ripostou ela, banhada em lágrimas.
- Por amor de Deus, Kate!
Christopher, vestido à civil, estava de pé à porta do trem, a chuva a pingar-lhe do tricórnio.
- Eu não te vou deixar aqui.
Inclinou-se para dentro do trem, agarrou-lhe um pulso e, apesar dos gritos seus e de ela se debater, retirou-a do trem.
- Toca a andar! - rosnou ele, arrastando-a encosta acima.
Uns segundos depois de Kate ter saído do trem, já o uniforme azul de hussardo, que Christopher a obrigara a vestir, estava todo ensopado.
- Isto não é ainda o fim - disse-lhe Christopher, a garra dele a magoar-lhe o pulso. - Simplesmente, os reforços não chegaram. Mas nós vamos voltar!
Kate, apesar do desânimo, notou aquele ”nós”. Referir-se-ia ele aos dois, ou aos franceses?
- Eu quero ir para casa - gritou ela.
- Não sejas maçadora e trata de andar! - disse ele, arrastando-a. As botas dela, de solas novas, escorregavam na vereda.
- Os franceses vão ganhar esta guerra - insistiu Christopher.
Já não estava muito seguro disso, mas, quando avaliava o equilíbrio do poder na Europa, convencia-se de que assim seria.
- Eu quero voltar para o Porto! - choramingava Kate.
- Não podemos!
- Porque não? - Kate tentou soltar-se dele, mas, embora não o conseguisse, obrigou-o a parar. - Porque não?
- Não podemos, muito simplesmente - disse ele - anda daí! Arrastou-a de novo, eximindo-se a explicar-lhe que não podia voltar ao Porto porque o raio de um homem chamado Sharpe estava vivo. Bradava aos céus, o sacana era apenas um tenente, velho para a idade, que, sabia-o agora, subira a partir das fileiras, mas era um tenente que sabia de mais a respeito dele e, por isso, Christopher precisava de arranjar um refúgio seguro donde, do modo discreto que tão bem conhecia, fizesse chegar uma carta a Londres. Depois, conforme a resposta que recebesse, avaliaria se Londres acreditava que se vira forçado a mostrar-se leal aos franceses por forma a montar um motim que iria libertar Portugal. A história parecia-lhe convincente, só que Portugal, de qualquer maneira, estava a ser libertado. Mas nem tudo estava perdido. Ia ser a palavra dele contra a de Sharpe e Christopher, apesar de tudo, era um cavalheiro e Sharpe, decidida-mente, não o era. Havia, ainda, o problema delicado de saber o que fazer com Kate, se viesse a regressar a Londres, mas podia sempre afirmar que não houvera nenhum casamento. Diria que era uma ilusão de Kate. As mulheres, como é sabido, são muito atreitas a ilusões. Como é que dizia Shakespeare? ”Fragilidade, o seu nome é mulher.” Afirmaria, pois, convictamente, que o palavrório do padre José, na igreja de Vila Real de Zedes, não fora um casamento e que apenas se submetera àquilo para evitar a vergonha a Kate. Era um jogo, sabia-o bem, mas já jogara às cartas o bastante para saber que, muitas vezes, as apostas mais arriscadas eram as que proporcionavam melhores ganhos.
E se a aposta falhasse, se não conseguisse salvar a a carreira em Londres, isso não tinha grande importância, pois continuava agarrado à convicção de que os franceses iam vencer e, no final da guerra, voltaria ao Porto, onde, à falta de outras informações, os advogados o reconheceriam como marido de Kate e ficaria rico. Kate concordaria com isso, pois iria recuperar de todas aquelas agruras logo que se encontrasse no conforto da sua casa. Até então, era bem verdade, sentia-se infeliz, tendo-se o regozijo do casamento transformado em horror na alcova, mas era coisa comum as éguas jovens rebelarem-se ao freio, tornando-se dóceis e obedientes depois de umas chicotadas. E Christopher desejava que fosse esse o desfecho com Kate porque a beleza dela ainda o excitava. Arrastou-a, pois, até onde Williamson, agora o criado de Christopher, lhe segurava o cavalo.
- Monta-te nele - ordenou ele a Kate.
- Eu quero ir para casa - disse ela.
- Monta!
Christopher quase lhe bateu com o chicote que estava enfiado debaixo da sela, mas ela, então, deixou-o, humildemente, ajudá-la a montar o cavalo.
- Agarra nas rédeas, Williamson! - ordenou Christopher.
Não queria que Kate virasse o cavalo e o fizesse correr para oeste.
- Segura-as bem, homem!
- Sim, meu Coronel - disse Williamson.
Estava ainda com o uniforme de fuzileiro, embora tivesse substituído o quépi por um chapéu de abas largas. Na retirada do Porto, agarrara num mosquete francês, numa pistola e num sabre e as armas davam-lhe um aspecto formidável, o que muito agradava a Christopher. O coronel, depois de Luís ter fugido, precisara de um criado, mas desejava mais ainda um guarda-costas e Williamson desempenhava esse papel na perfeição. Contava a Christopher histórias de brigas de taberna, de lutas com navalhas e com cacetes, de combates à punhada, e Christopher apreciava essas histórias quase tão avidamente como escutava as queixas de Williamson em relação a Sharpe.
Em compensação, Christopher prometera a Williamson um futuro dourado.
- Aprende francês - aconselhara ele ao desertor - e podes entrar no exército deles. Mostra que és bom e eles vão promover-te. Eles, no exército francês, não têm preconceitos.
- E se eu quiser ficar consigo, meu Coronel? - perguntara Williamson.
- Eu tive sempre o bom hábito de recompensar a lealdade, Williamson dissera-lhe Christopher.
E, assim, davam-se os dois muito bem, embora, na altura, a sorte deles estivesse em baixo se encontrassem, como milhares de outros fugitivos, a escalar montanhas à chuva, fustigados pela ventania e não enxergassem a sua frente senão a fome, encostas desoladas e as rochas encharcadas da Serra de Santa Catarina.
Atrás deles, na estrada do Porto para Amarante, ficava um rasto triste de carruagens e de carroças abandonadas à chuva. Os feridos franceses espreitavam a estrada ansiosamente, pedindo a Deus que os ingleses aparecessem antes dos camponeses portugueses, mas os camponeses estavam mais perto do que os casacas-vermelhas, muito mais perto e, bem depressa, começaram a surgir no meio da chuva as suas figuras sombrias, facas a brilharem-lhes nas mãos.
À chuva, os mosquetes dos feridos não iam disparar. E começaram os gritos.
Sharpe gostaria de levar Hagman consigo na perseguição a Christopher, mas o velho caçador clandestino não estava completamente recuperado da ferida no peito e Sharpe viu-se forçado a deixá-lo ficar. Escolheu doze homens, os mais fortes e mais inteligentes, mas todos se queixaram veementemente quando foram acordados para se meterem à chuva antes da alvorada, porque tinham a boca amarga do vinho da véspera, a cabeça a doer e a paciência em baixo.
- Mas não tão em baixo como a minha - avisou-os Sharpe -, portanto acabem com essa lamúria.
Hogan acompanhava-o, bem como Vicente e três dos seus homens. Vicente soubera que havia três carruagens de correio que iam partir para Braga ao alvorecer e disse a Hogan que os veículos eram necessariamente rápidos e iriam seguir por uma boa estrada. Os condutores, que iam transportar sacos de correio que não haviam podido seguir para Braga antes da saída dos franceses, de bom grado arranjaram lugar para os soldados, os quais se atiraram para cima dos sacos e se puseram a dormir.
Passaram pelos restos das defesas a norte da cidade, na meia-luz do alvorecer. A estrada era boa, mas as mala-postas eram retardadas pelas árvores que os guerrilheiros haviam feito cair na estrada e cada barricada levava meia hora ou mais a ser retirada.
- Se os franceses tivessem sabido que Amarante caíra - disse Hogan a Sharpe -, ter-se-iam retirado por esta estrada e nós nunca mais os alcança-ríamos. Não sabemos, porém, se a guarnição francesa de Braga também se retirou.
Mas retirara-se e o correio chegou acompanhado de um contingente de cavalaria inglesa vibrantemente aclamado pelos habitantes, cujo regozijo a chuva não conseguiu arrefecer. Hogan, no seu uniforme azul de engenheiro foi olhado como prisioneiro francês e houve quem lhe atirasse bostas de cavalo, antes de Vicente convencer a multidão que Hogan era inglês.
- Irlandês, se faz favor - protestou Hogan.
- É a mesma coisa - disse Vicente, sem pensar.
- Valha-me Deus! - exclamou Hogan desgostoso, para logo se pôr a rir, pois a multidão, agora, insistia em levá-lo aos ombros.
A estrada principal seguia para norte até Pontevedra, através da fronteira, mas para leste havia uma série de caminhos que subiam pelas montanhas e um deles, prometia Vicente, ia levá-los a Ponte Nova, mas era a mesma estrada que os franceses tentavam alcançar e, por isso, avisou Sharpe de que podiam ter de seguir a corta-mato através das montanhas.
- Se tivermos sorte - disse Vicente -, chegamos à ponte dentro de dois dias.
- E para o Saltador, quanto tempo? - perguntou Hogan.
- Mais meio dia.
- E quanto tempo vão levar os franceses?
- Uns três dias - disse Vicente -, devem levar uns três dias. Vicente fez o sinal da cruz.
- Espero que levem três dias.
Passaram a noite em Braga. Um sapateiro consertou-lhes as botas, insistindo em não lhes levar dinheiro. Aplicou o seu melhor couro nas solas e reforçou-as com cardas, para melhor se agarrarem ao chão no terreno molhado. Deve ter trabalhado toda a noite, pois, de manhã, entregou timidamente a Sharpe capas de couro para os rifles e para os mosquetes. As armas tinham sido protegidas da chuva com rolhas metidas nas bocas dos canos e com os fechos embrulhados em pedaços de pano, mas as capas de couro eram muito melhores. O sapateiro untara as costuras das capas com gordura de ovelha, para as tornar impermeáveis à chuva e Sharpe e os seus homens ficaram extremamente gratos pela oferta.
Deram-lhes tanta comida que acabaram por entregar a maior parte a um padre, para ele distribuir pelos pobres e, depois, puseram-se em marcha, debaixo de chuva. Hogan ia montado, pois o administrador do concelho presenteara-o com um burro, um animal de passo seguro, embora zarolho e teimoso. Hogan colocou-lhe um cobertor a servir de sela e montou-se nele, ficando com os pés quase a roçar no chão. Sugeriu que utilizassem o burro para levar as armas, mas ele era o mais velho do grupo, e o menos ágil, por isso Sharpe insistiu em que seguisse ele no burro.
- Não faço ideia nenhuma do que iremos encontrar - dizia Hogan a Sharpe, quando subiam para a montanha pejada de rochedos. - Se tiverem destruído a ponte de Ponte Nova, como já devem ter feito, os franceses vão dispersar-se. Vão pôr-se a correr para salvarem a pele e vai ser difícil encontrar Mister Christopher nesse caos. De todo o modo, temos de tentar.
- E se a ponte estiver intacta?
- Atravessamo-la, quando lá chegarmos - disse Hogan, depois rindo-se. Detesto esta chuva! já alguma vez experimentou aspirar rapé à chuva? Cheira a vómito de gato.
Caminharam para leste através de um amplo vale ladeado de altas mon-tanhas nuas, coroadas com enormes rochedos cinzentos. A estrada estendia-se do lado sul do rio Cávado, o qual corria, límpido e profundo, por entre prados que haviam sido pilhados pelos franceses, de modo que não se viam vacas nem ovelhas a pastarem a erva primaveril. As aldeias, em tempos prósperas, estavam agora desertas e a pouca gente que lá permanecia era muito cautelosa. Hogan, Vicente e os seus homens tinham uniformes azuis, da mesma ’cor que as casacas do inimigo, enquanto que as casacas-verdes dos fuzileiros se confundiam com os uniformes dos dragões franceses. A população, se alguma coisa sabia, pensava que os ingleses tinham uniformes vermelhos, por isso, o sargento Macedo, prevendo a confusão, arranjara em Braga uma bandeira portuguesa que ele levava enfiada num tronco de freixo. A bandeira ostentava uma coroa dourada com uma grinalda e sossegava as populações que reconheciam a insígnia. Nem sempre isso acontecia, mas, depois de falarem com Vicente, os aldeãos tudo faziam pelos soldados.
- Por amor de Deus - dizia Sharpe a Vicente -, diga-lhes para esconderem o vinho.
- São muito amistosos - dizia Harper, quando saíam de uma aldeia onde os montes de estrume eram maiores do que as casas. - Não são como os espanhóis. Esses são frios. Nem todos, mas alguns eram sacanas.
- Os espanhóis não gostam dos ingleses - disse-lhe Hogan.
- Eles não gostam dos ingleses? - exclamou Harper, surpreendido. Então, afinal, não são sacanas. Mas está a querer dizer, meu Capitão, que os portugueses gostam dos ingleses?
- Os portugueses detestam os espanhóis - disse Hogan - e quando se tem um vizinho que se detesta, uma pessoa procura um amigo maior que a possa ajudar.
- Então, quem é que ajuda a Irlanda, meu Capitão?
- Deus, nosso Sargento - disse Hogan. - É Deus que ajuda a Irlanda.
- Senhor aí em cima - disse Harper piamente, olhando para o céu chuvoso por favor, acorda.
Porque é que não luta ao lado dos franceses - rosnou Harris. Basta de conversa! - lançou Sharpe.
Caminharam em silêncio durante algum tempo, mas depois Vicente não conseguiu conter a curiosidade.
- Se os irlandeses detestam os ingleses, porque é que, na verdade, combatem ao lado deles?
Harper riu-se ao ouvir a pergunta, Hogan olhou para o céu cinzento e Sharpe apenas franziu o sobrolho.
A estrada, agora que se encontravam distantes de Braga, estava mais mal conservada. A erva crescia-lhe no meio, entre os sulcos feitos pelos carros de bois. Os franceses não tinham andado a pilhar por ali e viam-se alguns rebanhos de ovelhas encharcadas e algumas pequenas manadas de vacas, mas mal os pastores enxergavam os soldados, logo se apressavam a afastar o gado. Vicente continuava intrigado e, não tendo sido elucidado pelos seus companheiros, tentou de novo.
- De facto, não compreendo - disse ele num tom inocente - porque é que os irlandeses lutam pelo rei inglês.
Harris inspirou fundo, como que a preparar-se para responder, mas o olhar severo de Sharpe fê-lo permanecer calado. Harper pôs-se a assobiar ”Over the Hilis and Far Away”, mas depois não dominou o riso, perante o silêncio opressivo que Hogan, por fim, quebrou.
- É por causa da fome - explicou o engenheiro a Vicente -, da fome, da pobreza e do desespero. E porque há pouco trabalho para um homem decente ganhar a vida e nós sempre gostámos de uma boa luta.
Vicente ficou intrigado com a resposta.
- E isso é verdade em relação a si, meu Capitão? - perguntou ele.
- Não, em relação a mim, não - concedeu Hogan. - A minha família teve sempre algum dinheiro. Não muito, mas nunca tivemos de cavar em solo escasso o pão nosso de cada dia. Não, eu alistei-me porque queria ser enge-nheiro. Gosto de coisas práticas e esta era a forma de eu fazer o que gosto. Mas, por exemplo, aqui o sargento Harper - disse Hogan, olhando para Harper tenho quase a certeza de que se alistou para evitar a fome.
- Assim foi - disse Harper.
- E você odeia os ingleses - perguntou Vicente a Harper.
- Cuidado - rosnou Sharpe.
- Eu detesto o raio do chão que os sacanas pisam, meu Tenente - disse Harper vivamente, vendo, depois, que Vicente olhava apreensivo para Sharpe.
- Mas não posso dizer que os odeie a todos - acrescentou Harper.
- A vida é complicada - disse Hogan vagamente. - Por exemplo, ouvi dizer que há uma Legião Portuguesa no exército francês.
Vicente ficou embaraçado.
- Eles acreditam nas ideias francesas, meu Capitão,
- Ah, ideias! - exclamou Hogan. - São muito mais perigosas do que vizinhos grandes ou pequenos. Eu não acredito em lutas por ideias - disse ele, abanando a cabeça com ar triste -, como tão-pouco nisso acredita o nosso Sargento Harper.
- Eu não acredito? - perguntou Harper.
- Não acredita, não - atirou Sharpe.
- Então, em que é que acredita? - quis Vicente saber.
- Na trindade, meu Tenente - respondeu Harper.
- Na trindade? - Vicente estava confundido.
- No rifle - disse Sharpe -, na baioneta e em mim.
- Nesses também - confirmou Harper, com uma gargalhada.
- A questão é que - tentou Hogan ajudar Vicente - é como se estivéssemos numa casa em que houvesse um casamento infeliz e você fizesse uma pergunta a respeito de fidelidade. Ia causar um grande embaraço, pois ninguém queria falar nisso.
- Harris! - avisou Sharpe, vendo que o atirador ruivo abria a boca para falar.
- Eu ia apenas dizer, meu Tenente - disse Harris -, que há ali uma dúzia de cavaleiros, naquela montanha além.
Sharpe voltou-se ainda a tempo de ver os cavaleiros desaparecerem do cimo da montanha. A chuva era demasiado densa e a luz demasiado difusa para se perceber se envergavam uniforme, mas Hogan sugeriu que os franceses podiam muito bem ter mandado patrulhas de cavalaria à frente da retirada.
- Devem querer saber se tomámos Braga - explicou ele -, porque, se não o tivéssemos feito, eles tomariam esta estrada, tentando escapar para Pontevedra.
Sharpe fixou os olhos na montanha distante.
- Se há por aqui cavalaria - disse ele -, não quero ser apanhado no meio da estrada.
De facto, naquela paisagem de pesadelo, a estrada era o único sítio onde a cavalaria levava vantagem. Por isso, para evitarem a cavalaria inimiga, derivaram para norte, metendo-se no descampado. Isso obrigou-os a atravessar o Cávado, o que conseguiram fazer num vau que dava acesso apenas a elevados prados de Verão. Sharpe olhava continuamente para trás, mas não viu sinais de cavaleiros. A passagem subia para terreno selvagem. As montanhas eram íngremes, os vales profundos e o chão coberto de tojo, de fenos, de erva escassa e enormes rochedos redondos, alguns tão precariamente apoiados noutros que parecia bastar o toque de uma criança para os fazer rolar pelos precipícios das encostas abaixo. A erva parecia servir apenas a umas poucas ovelhas de lã emaranhada e a umas quantas cabras selvagens de que os lobos e linces se alimentavam. A única aldeia por onde passaram era uma povoação pobre e desolada, com muros de rocha em redor de pequenas hortas. Viam-se cabras presas em prados do tamanho de quintais. Umas vacas esqueléticas olharam para os soldados quando eles passaram. Continuaram a subir, ouvindo os chocalhos das cabras no meio dos rochedos e passando por um pequeno oratório coberto de flores secas. Vicente fez o sinal da cruz quando passou por ele.
Tornaram de novo a leste, seguindo por uma cumeada onde os grandes rochedos arredondados tornariam impossível qualquer cavalaria formar e carregar. Sharpe continuava a observar a sul, mas não via nada. No entanto, tinham avistado cavalaria por ali e devia haver mais, pois iam ao encontro de um exército desesperado que, de um triunfo iminente, tinha sido lançado, num único dia, numa derrota vergonhosa.
Era difícil avançar nas montanhas. Descansavam de hora a hora, para logo se afadigarem de novo. Estavam todos encharcados, cansados e gelados. A chuva não cessava e o vento rodara para leste, de forma que, agora, soprava-lhes de frente. As correias dos rifles feriam-lhes os ombros encharcados, mas a chuva, ao menos, parou pela tarde, embora o vento permanecesse áspero e frio. Ao crepúsculo, sentindo-se tão cansado como aquando da terrível retirada para Vigo, Sharpe conduziu os homens para uma pequena povoação deserta, de casas baixas de pedra, com tectos de colmo.
- Sinto-me em casa - disse Harper, todo contente.
Os sítios mais secos para dormir eram dois compridos palheiros em forma de caixão, cujos conteúdos eram protegidos dos ratos, porque os palheiros estavam erguidos sobre uns pilares de pedra em forma de cogumelos. A maior parte dos homens amontoou-se nesses reduzidos espaços, enquanto Sharpe, Hogan e Vicente compartilharam a menos danificada das casas, onde Sharpe conseguiu acender a lareira com lenha molhada e ferver um chá.
- A perícia mais essencial de um soldado - disse Hogan, quando Sharpe lhe levou o chá.
- Qual é? - perguntou Vicente, sempre ansioso por aprender o seu novo ofício.
- Fazer lume com lenha molhada - disse Hogan.
- Não devia ter uma ordenança, meu Capitão? - perguntou Sharpe.
- Devia, pois, mas você também, Richard.
- Eu não gosto de ter criados - disse Sharpe.
- Nem eu - disse Hogan -, mas você conseguiu fazer um belo chá, Richard, e, se um dia Sua Majestade decidir que não deseja que um valdevinos londrino seja seu oficial, então eu tomo-o ao meu serviço.
Montaram-se as sentinelas, preparou-se mais chá, acenderam-se os cachimbos com tabaco húmido. Hogan e Vicente iniciaram uma apaixonada discussão a respeito de um homem chamado Hume, de quem Sharpe nunca ouvira falar e que mais não era senão um filósofo escocês já falecido, mas, como parecia que o escocês já falecido dizia que não havia nenhuma certeza no mundo, Sharpe perguntava-se porque é que havia gente que perdia tempo a lê-lo, para já não falar em discutir a respeito dele, embora isso divertisse Hogan e Vicente. Sharpe, farto da conversa deles, deixou-os entregues ao debate e foi fazer a ronda das sentinelas.
Começou a chover de novo e, depois, os trovões estremeceram o céu e os relâmpagos chicotearam os rochedos. Sharpe, Harris e Perkins estavam abrigados num santuário que era uma espécie de gruta, onde umas flores secas jaziam diante de uma Virgem Maria.
- Jesus, como chove - anunciou-se Harper, chapinhando debaixo da chuva -, e nós podíamos estar agarrados àquelas damas do Porto. - Harper atirou-se para o abrigo exíguo. - Eu não sabia que estava aqui, meu Tenente - disse ele. - Trago sumo de sentinela. - Trazia um cantil de chá. - Meu Deus - continuou ele -, lá fora não se vê a ponta de um corno.
- Esta chuva é como na sua terra, nosso Sargento? - perguntou Perkins.
- O que é que tu sabes disso, meu rapaz? Em Donegal, agora, o sol está sempre a brilhar, todas as mulheres dizem sim e ambos os guardas de caça têm pernas de pau. - Entregou o cantil a Perkins e espreitou a escuridão molhada. - Como é que vamos encontrar o seu amigo com um tempo destes, meu Tenente?
- Só Deus sabe.
- E isso interessa, agora?
- Eu quero reaver o meu óculo.
- Jesus, Maria e José - exclamou Harper -, vai deambular pelo meio do exército francês à procura dele?
- É mais ou menos isso - disse Sharpe.
Passara o dia tomado pelo sentimento da futilidade do esforço, mas isso não era razão para não fazer o esforço. E parecia-lhe justo que Christopher fosse castigado. Sharpe achava que a lealdade de um homem era a sua raiz, que era inamovível, mas Christopher, era óbvio, achava que a lealdade era negociável. Isso era assim porque Christopher era inteligente e sofisticado, mas se Sharpe conseguisse apanhá-lo, era um homem morto.
O alvorecer foi frio e molhado. Tornaram a subir aos cimos semeados de rochedos, deixando atrás deles o vale coberto de nevoeiro. A chuva era agora mais ligeira, mas continuava a bater-lhes na cara. Sharpe seguia à frente e não via ninguém, continuando a não ver ninguém quando soou um mosquete, uma nuvem de fumo surgiu ao lado de uma rocha e ele mergulhou para o chão, embatendo a bala num rochedo e guinchando para o ar. Todos se abrigaram, excepto Hogan, montado no seu burro feio, mas Hogan teve a presença de espírito para se pôr a gritar.
- Inglês - gritava ele -, inglês!
Estava meio montado, meio fora do burro, com receio de outro tiro, na esperança, porém, de que o seu berro o evitasse.
De trás da rocha surgiu uma figura vestida de pele de cabra. O homem tinha uma grande barba, um sorriso aberto, mas sem dentes. Vicente chamou-o e os dois tiveram uma conversa rápida, finda a qual Vicente se voltou para Hogan.
- Ele diz que se chama javali e pede desculpa, mas não sabia que éramos amigos. Pede que o desculpemos.
- Javali? - perguntou Hogan.
- Quer dizer porco selvagem - disse Vicente, encolhendo os ombros. Os camponeses que andam atrás dos franceses para os matar arranjam todos uma alcunha
- Ele está sozinho? - perguntou Sharpe. É só ele.
- Então, ou é um grande estúpido ou é muito valente - disse Sharpe, suportando depois um abraço de Javali e o cheiro pestilento do bafo dele. O mosquete do homem era muito antigo. A coronha de madeira, presa ao cano por aros de ferro, estava rachada e os próprios aros estavam enferrujados e soltos, mas javali tinha uma bolsa de lona cheia de pólvora e um sortimento de balas de mosquete e insistiu em acompanhá-los, quando soube que podia encontrar franceses para matar. Trazia enfiada no cinto uma faca curva de aspecto facínora e pendia-lhe junto à perna um machado preso ao cinto por um pedaço de corda.
Sharpe retomou a marcha. javali não parava de falar e Vicente foi traduzindo partes da sua história. O seu verdadeiro nome era André e era um pastor de cabras do Douro. Era órfão desde os seis anos e pensava que tinha vinte e cinco anos, embora parecesse muito mais velho. Trabalhava para uma dúzia de famílias, guardando-lhes o gado dos linces e dos lobos. Vivia com uma mulher, dizia ele com orgulho, mas os dragões tinham aparecido e violaram-lhe a mulher quando ele estava ausente, e esta que tinha um temperamento, segundo ele, pior que o de um bode, devia ter puxado de uma faca para os violadores, pois eles tinham-na matado. javali não parecia muito abalado com a morte da mulher, mas ainda assim estava determinado a vingar-se. Apalpou a faca e, depois, o escroto, para indicar o que tinha em mente.
Javali, ao menos, tinha o mérito de conhecer os atalhos mais rápidos através das montanhas. Eles tinham caminhado bastante para o norte da estrada que haviam abandonado, quando Harris avistara os cavaleiros, e essa estrada passava pelo vale amplo que agora se estreitava ao derivar para leste. O Cávado torcia-se ao lado da estrada, por vezes desaparecendo em maciços de árvores, enquanto cursos de água, alimentados pela chuva, tombavam das montanhas e iam engrossar o rio.
A estimativa de dois dias de Vicente fora prejudicada pelo mau tempo e eles passaram a segunda noite nas montanhas, meio abrigados da chuva pelos grandes rochedos, e, na manhã seguinte, puseram-se de novo em marcha. Sharpe observou como o vale do rio se estreitara para quase nada. A meio da manhã, tinham à vista Salamonde e, então, olhando para trás, pelo vale onde o nevoeiro se desvanecia, viram mais qualquer coisa.
Viram um exército. Avançava num enxame pela estrada e pelos campos de ambos os lados da estrada, um grande aglomerado de homens e de cavalos sem nenhuma ordem em particular, era uma horda que tentava escapar de Portugal e do exército inglês que agora os perseguia a partir de Braga.
- Temos de nos apressar - disse Hogan.
- Vão levar horas a subir aquela estrada - disse Sharpe.
Sharpe apontava para uma aldeia situada no local onde o vale terminava num desfiladeiro, donde a estrada, em vez de seguir em terreno plano, derivava, ao lado do rio, para as montanhas. Por onde então, os franceses podiam espraiar-se pelos campos e marchar com uma frente ampla, mas, depois de passarem por Salamonde, ficavam restringidos à estreita estrada, marcada pelos sulcos fundos das rodas dos carros. Sharpe pegou no óculo de Hogan e olhou para o exército francês. Algumas unidades, segundo via, marchavam em boa ordem, mas a maior parte seguia desgarrada. Não se viam peças, nem carroças, nem carruagens, portanto, se conseguisse escapar, o marechal Soult tinha de arrastar-se até Espanha e ia ter de explicar ao chefe como é que tinha perdido tudo o que tinha valor.
- Estão ali uns vinte, trinta mil homens - disse Sharpe, espantado, ao devolver o óculo a Hogan. - Vão levar a maior parte do dia a passar por aquela aldeia.
- Mas têm o diabo nos calcanhares - observou Hogan - e isso incita um homem a ser veloz.
Apressaram-se a avançar. Um sol fraco iluminou finalmente as montanhas lívidas, embora a chuva continuasse a cair a norte e a sul. Atrás deles, os fran-ceses eram uma grande massa escura a comprimir-se na estreita extremidade do vale, onde, tais grãos de areia a passarem numa ampulheta, atravessavam Salamonde. Subia fumo da aldeia, à medida que as tropas saqueavam e queimavam.
A estrada da salvação dos franceses começava agora a subir. Seguia o desfiladeiro sulcado pelo Cávado de água espumante, o qual se torcia para fora das montanhas em grandes laçadas, por vezes saltando por uma série de precipícios em nevoeiros de cascatas. Um esquadrão de dragões seguia à frente da retirada, para detectarem se havia guerrilheiros preparados para embos-carem a coluna. Se os dragões enxergaram Hogan e os seus homens no alto das montanhas, nada fizeram para os alcançar, pois os fuzileiros e os soldados portugueses estavam muito longe e muito alto e os franceses tinham mais com que se preocupar, ao final da tarde quando os dragões chegassem à Ponte Nova.
Sharpe já se encontrava acima da Ponte Nova e observava-a. Era ali que podia ser travada a retirada dos franceses, pois a aldeiazinha agarrada à montanha do outro lado da ponte estava abarrotada de homens e, ao primeiro relance da Ponte Nova, do alto das montanhas, Hogan rejubilara.
- Conseguimos! - exclamara ele. - Conseguimos!
Porém, quando pegou no óculo e o apontou para a ponte, o seu júbilo desvaneceu-se.
- São homens da Ordenança - disse ele. - Não há ali um único uniforme de soldado. - Tornou a olhar atentamente. - Nem o raio de uma única peça - disse ele amargamente - e os tolos nem sequer destruíram a ponte.
Sharpe pediu o óculo a Hogan e apontou-o à ponte. Esta tinha dois maciços pilares de pedra, um em cada margem, e o rio era atravessado por duas grandes vigas, sobre as quais se apoiava, antes, uma plataforma de madeira. A Ordenança, eventualmente querendo evitar a completa destruição da ponte, retirara a plataforma de madeira, deixando as duas enormes vigas no seu lugar. Depois, no limite da aldeia, do lado leste da ponte, tinham aberto trincheiras, a partir das quais podiam cobrir a meio desmantelada ponte com fogo de mosquete.
- Talvez funcione - rosnou Sharpe.
- E o que é que você faria na situação dos franceses? - perguntou-lhe Hogan.
Sharpe olhou lá para baixo, para o desfiladeiro, olhando depois para trás, para oeste. Distinguia bem a serpente escura do exército francês ao longo da estrada, mas mais para trás não havia sinais da perseguição do exército inglês.
- Esperava pela noite - disse ele - e depois atacava pelas vigas.
A Ordenança era entusiástica, mas não passava de uma turba, mal armada e sem treino militar e esse género de tropas entrava facilmente em pânico. Pior ainda, era escassa a força que se encontrava na Ponte Nova. Seria mais do que suficiente se a ponte tivesse sido completamente destruída, mas as duas vigas gémeas eram um convite ao ataque dos franceses. Sharpe apontou o óculo de novo à ponte.
- Aquelas vigas são bastante largas para se andar sobre elas - disse ele. - Eles vão atacar de noite, esperando que os defensores estejam a dormir.
- Vamos esperar que a Ordenança se mantenha acordada - disse
Hogan, desmontando do burro. - Tudo o que podemos fazer - acrescentou ele - é esperar.
- Esperar?
- Se eles forem travados aqui - explicou Hogan -, este é um sítio tão bom como outro qualquer para vigiarmos Mister Christopher. E se eles conseguirem passar, então... - Hogan encolheu os ombros.
- Eu devia ir lá abaixo - disse Sharpe - dizer-lhes para se livrarem daquelas vigas.
- E como é que eles vão fazer isso, com os dragões a dispararem sobre eles, da outra margem?
Os dragões tinham desmontado e tinham-se espalhado ao longo da margem ocidental e Hogan distinguia bem os tufos de fumo das carabinas deles.
- É demasiado tarde, Richard - disse ele -, é demasiado tarde. Não saia daqui.
Acamparam no meio dos rochedos. A noite escureceu rapidamente, porque a chuva recomeçara a cair e as nuvens amortalharam o Sol poente. Sharpe permitiu aos homens acenderem fogueiras para fazerem chá. Os franceses iam ver as fogueiras, mas isso pouco importava, pois, logo que a escuridão envolveu as montanhas, uma miríade de chamas surgiu nas encostas. Eram os guerrilheiros a reunirem-se, vindos dos quatro cantos do Norte de Portugal, para ajudarem a dizimar o exército francês.
Um exército encharcado, cheio de frio e de fome, exausto e encurralado.
O major Dulong ainda se ressentia da derrota que sofrera em Vila Real de Zedes. O hematoma na cara desaparecera, mas a recordação de ter sido repelido magoava-o. Por vezes, lembrava-se do fuzileiro que o havia vencido e desejaria tê-lo no 31º de Infantaria Ligeira. Também desejaria que o 31º estivesse armado com rifles, mas isso era o mesmo que querer a Lua, pois o imperador não queria ouvir falar em rifles. Demasiado espalhafatosos e lentos, uma arma de mulher, dizia ele. Viva o mosquete!
Agora, junto à ponte chamada Ponte Nova, Soult mandara chamar Dulong, porque tinham dito ao marechal que ele era o melhor e o mais valente oficial do seu exército. E Dulong assim parecia, com o uniforme amarrotado e a cicatriz na cara, pensou Soult. Dulong retirara a brilhante pluma do quépi, tendo-a embrulhado num pano encerado e prendido ao talabarte. Tivera a esperança de usar a pluma quando o seu regimento entrasse em Lisboa, mas isso parecia que não ia acontecer. Não naquela Primavera, de qualquer modo.
Soult passeava-se com Dulong num outeiro donde se via a ponte com as duas vigas, vendo-se também, e ouvindo-se, a barulhenta Ordenança na outra margem.
- Não são muitos - observou Soult. - Aí uns trezentos?
- Talvez um pouco mais - disse Dulong.
- Como é que se vai livrar deles?
Dulong apontou um óculo à ponte. As vigas tinham cerca de um metro de largura, mais do que o suficiente, embora a chuva as tornasse escorregadias. Ergueu o óculo e verificou que os portugueses tinham aberto trincheiras das quais podiam atirar directamente ao longo das vigas, mas a noite ia ser escura e a Lua ia ficar tapada pelas nuvens.
- Vou levar cem voluntários - disse ele -, cinquenta para cada viga, e parto à meia-noite.
A chuva caía cada vez mais forte e o crepúsculo estava a ficar frio. Os mosquetes dos portugueses, Dulong sabia-o, iam ficar encharcados e os homens que os empunhavam gelados até aos ossos.
- Uma centena de homens - prometeu ele ao marechal - e a ponte é nossa. Soult inclinou a cabeça.
- Se for bem-sucedido, Major - disse ele -, mande-me logo dizer. Mas, se falhar, não quero saber.
Voltou-se e foi-se embora.
Dulong regressou ao regimento e pediu voluntários, nada surpreendido quando todo o regimento deu um passo em frente. Escolheu, então, uma dúzia de bons sargentos e encarregou-os de escolherem os restantes homens, avisando-os de que o combate ia ser uma grande confusão, à chuva e ao frio.
- Vamos utilizar as baionetas - disse ele -, porque, com este tempo, os mosquetes não disparam e, se conseguissem disparar o primeiro tiro, não iam ter tempo para recarregar.
Chegou a pensar em recordar-lhes que lhe deviam uma demonstração de bravura, depois de terem tido relutância em avançar contra o fogo dos rifles, na torre de vigia, em Vila Real de Zedes, mas depois decidiu que eles bem sabiam isso e calou-se.
Os franceses não acenderam nenhuma fogueira. Os homens resmun-garam, mas o marechal persistiu na recusa. Na outra margem, a Ordenança considerou que estava em segurança e acenderam a lareira de uma das casas acima da ponte, para conforto dos comandantes. A casa tinha uma pequena janela, donde se escapava, através dos vidros sem cortinas, luz suficiente para se reflectir nas vigas molhadas que atravessavam o rio. O reflexo débil tremeluzia à chuva, mas servia de guia aos voluntários de Dulong.
Partiram à meia-noite. Em duas colunas, cada uma com cinquenta homens. Dulong disse-lhes que tinham de correr pelas vigas e colocou-se à cabeça da coluna da direita, empunhando o sabre. Os únicos sons que se ouviram foram o chiar do rio lá em baixo, o vento a guinchar nas rochas, o embater dos pés e o grito breve de um homem que escorregou e caiu para o Cávado. Dulong chegou à encosta e verificou que a primeira trincheira estava vazia e pensou que os defensores se deviam ter abrigado nas choupanas que ficavam logo atrás da segunda trincheira, sem terem deixado uma única sentinela a guardar a ponte. Teria bastado um cão, para avisar do ataque dos franceses, mas tanto os homens como os cães se tinham abrigado do mau tempo.
- Sargento! - soprou o major. - As casas! Há que limpá-las!
Os portugueses estavam todos a dormir quando os franceses entraram. Apareceram de baioneta calada e sem misericórdia. As primeiras duas casas caíram rapidamente, os ocupantes mortos mal acordavam, mas os seus gritos alertaram os outros, que se puseram a correr no meio da escuridão ao encontro da mais bem treinada infantaria do exército francês. As baionetas desempe-nharam a sua tarefa e os gritos das vítimas completaram a vitória, porque os sobreviventes fugiram, confundidos e aterrorizados com os gritos horríveis na noite escura.
À meia-noite e um quarto, Dulong aquecia-se ao lume que o havia conduzido à vitória.
O marechal Soult tirou a medalha da Legião de Honra da sua casaca e espetou-a na lapela da esfarrapada casaca do major Dulong. Depois, com lágrimas nos olhos, beijou as bochechas do major.
Porque se dera um milagre e a primeira ponte caíra nas mãos dos franceses.
Kate envolveu-se num cobertor molhado e colocou-se ao lado do cavalo fatigado, a observar a infantaria francesa a derrubar pinheiros, a cortar-lhes os ramos e a transportar os troncos desbastados para a ponte. Mais madeira era levada das pequenas casas. As vigas dos telhados eram suficientemente compridas para cobrirem a largura da ponte, mas tudo aquilo levava o seu tempo, pois os toros, toscos, tinham de ficar bem unidos, para que os soldados, os cavalos e as mulas pudessem atravessar em segurança. Os soldados que não estavam a trabalhar amontoavam-se, aconchegando-se, tentando defender-se da chuva e do vento. Subitamente, parecia outra vez Inverno. Soaram tiros de mosquete ao longe e Kate apercebeu-se de que eram os habitantes da região que vinham atirar aos invasores.
Uma cantineira, uma das rijas mulheres que vendiam aos soldados café, chá, agulhas, linhas e muitas outras pequenas coisas úteis, teve pena de Kate e levou-lhe uma caneca de café morno, com umas gotas de aguardente.
- Se eles demorarem muito mais tempo - disse ela, apontando com a cabeça os soldados que reconstruíam o passadiço da ponte -, ainda acabamos todas com um dragão inglês em cima de nós. Ao menos, sempre levávamos alguma coisa desta campanha!
A mulher soltou uma gargalhada e voltou para junto das mulas carregadas com a sua mercadoria.
Kate bebeu o café. Nunca sentira tanto frio, nunca se vira tão molhada, nunca se achara tão desgraçada. E sabia que a culpa era toda sua. Williamson pôs-se a olhar para a caneca do café e Kate, incomodada com o olhar dele, afastou-se para o outro lado do cavalo. Detestava Williamson, detestava o olhar faminto dele e temia a ameaça do transparente desejo dele. Seriam todos os homens uns animais? Christopher, com toda a sua elegante civilidade à luz do dia, gostava de a magoar à noite, mas Kate, depois, recordou-se do beijo meigo que Sharpe lhe dera e sentiu as lágrimas virem-lhe aos olhos. E o tenente Vicente, pensou ela, era um homem gentil. Christopher costumava dizer que havia dois lados no mundo, como havia peças pretas e peças brancas no xadrez, e Kate sabia agora que escolhera o lado ruim. E, pior ainda, não sabia como é que ia voltar ao lado bom,
Christopher apareceu, vindo do meio da coluna atolada.
- Isso é café? - perguntou ele, prazenteiro. - Ainda bem, eu preciso de uma coisa quente. - Tirou a caneca das mãos de Kate, bebeu o café todo e deitou a caneca fora. - Mais uns minutos, minha querida - disse ele -, e pomo-nos a caminho. Passamos mais uma ponte, atravessamos as montanhas e estamos em Espanha. Vamos ter uma cama como deve ser e um belo banho. Como te sentes?
- Sinto frio.
- É difícil acreditar que estamos em Maio, não é? É pior do que em Inglaterra. Mas há quem diga que esta chuva faz bem aos olhos. Vais ficar ainda mais bonita, minha querida.
Christopher calou-se, ao soar do oeste um matraquear de mosquetes. O matraquear elevou-se durante uns segundos, ecoando pelas íngremes encostas do desfiladeiro, e depois desvaneceu-se.
- Andam a escorraçar os bandidos - disse Christopher. - É muito cedo para serem os perseguidores.
- Quem dera que eles nos apanhassem - disse Kate.
- Não sejas ridícula, minha querida. Ademais, temos uma brigada de infantaria e dois regimentos de cavalaria a cobrir-nos a retaguarda.
- Temos? - exclamou Kate, indignada. - Eu sou inglesa! Christopher sorriu amargamente.
- Também eu, minha querida, mas o que nós queremos acima de tudo é a paz. Paz! E talvez esta retirada seja o que vai convencer os franceses a deixarem Portugal sossegado. É para isso que eu trabalho. Para a paz.
Havia uma pistola enfiada na sela de Christopher, mesmo por trás de Kate e ela esteve tentada a pegar na arma, a encostar-lha à barriga e a puxar o gatilho. Porém, nunca tinha disparado uma arma, não sabia se a pistola estava carregada e, sobretudo, o que é que lhe ia acontecer, sem Christopher ao seu lado. Williamson ia, certamente, maltratá-la. E, por qualquer razão, lembrou-se da carta que conseguira deixar para o tenente Sharpe, colocando-a no lintel da sala da House Beautiful sem que Christopher visse. Pensava, agora, como era uma carta estúpida. O que é que ela queria dizer a Sharpe? E porquê a ele? O que é que ela esperava que ele fizesse?
Kate olhou para o alto da montanha. Havia homens na cumeada e Christopher voltou-se para ver para onde estava ela a olhar.
- São mais dessa escumalha - disse ele.
- Patriotas - insistiu Kate.
- Camponeses com mosquetes enferrujados - disse Christopher, azedo -, que torturam os prisioneiros e que não fazem ideia nenhuma dos princípios que estão em causa nesta guerra. Eles são as forças da velha Europa - prosseguiu ele -, supersticiosas e ignorantes. São os inimigos do progresso.
Ficou de cenho carregado e abriu uma das bolsas da sela, para se certificar de que o seu uniforme vermelho lá estava. Se os franceses se vissem forçados a render-se, aquela casaca-vermelha seria o passaporte dele. Metia-se montanhas adentro e, se os guerrilheiros o agarrassem, convencê-los-ia de que era um inglês que escapara aos franceses.
- Vamos seguir, meu Coronel - disse Williamson. - A ponte está pronta. - Baixou a cabeça a Christopher e, depois, voltou a cara torcida para Kate. - Quer que a ajude a montar, minha senhora?
- Não é preciso - disse Kate friamente.
Ao montar, porém, deixou escorregar o cobertor encharcado para o chão e apercebeu-se de que, tanto Christopher como Williamson, lhe estavam a olhar para as pernas, enfiadas nas calças justas de hussardo.
Vivas soaram na ponte, quando os primeiros cavaleiros fizeram os cavalos entrar no precário passadiço da ponte. O som fez a infantaria erguer-se, agarrar nos mosquetes e nas trouxas e apressar-se para a ponte substituta.
- Mais uma ponte - garantiu Christopher a Kate - e estamos a salvo. Apenas mais uma ponte. O Saltador.
À frente deles, no alto das montanhas, Richard Sharpe estava já a dirigir-se para lá. Para a última ponte em Portugal. O Saltador.
Ao romper do dia é que Sharpe e Hogan viram que os seus receios se confirmavam. Várias centenas de soldados franceses de infantaria encon-travam-se em frente da Ponte Nova. Dos defensores portugueses viam-se apenas corpos numa aldeia devastada, onde equipas de soldados se atarefavam a terminar o passadiço reconstruído sobre as águas revoltas do Cávado. No longo e ventoso desfiladeiro ecoavam tiros esporádicos. Eram os camponeses portugueses, atraídos como abutres pelo exército sitiado, a dispararem fora de alcance. Sharpe viu uns cem voltigeurs galgarem em boa ordem uma colina para escorraçarem um bando de valentes que haviam ousado aproximar-se demasiado da coluna atolada. Houve uma rajada de tiros, os soldados franceses vasculharam a colina e regressaram à estrada abarrotada. Não havia sinais de perseguição por parte dos ingleses. Hogan achava que o exército de Wellesley estaria ainda a meio dia de marcha afastado dos franceses.
- Ele não os terá seguido directamente - explicou ele. - Não deve ter atravessado a Serra de Santa Catarina como eles fizeram. Deve ter-se mantido nas estradas, dirigindo-se primeiro a Braga e, agora, deve estar a marchar para leste. Quanto a nós... - fez uma pausa, olhando para baixo, para a ponte capturada. - Quanto a nós, o melhor que temos a fazer é seguirmos para o Saltador - disse ele amargamente - porque é a nossa última oportunidade.
A Sharpe parecia-lhe que não havia mais nenhuma oportunidade. Via lá em baixo mais de vinte mil fugitivos franceses que obscureciam o vale. Christopher estava metido no meio daquela massa de gente e Sharpe não sabia como havia de deitar mão ao renegado. Contudo, abotoou a casaca descosida, agarrou no rifle e seguiu Hogan que, apercebia-se Sharpe, estava igualmente pessimista, enquanto Harper, perseverantemente, continuava todo animado, mesmo quando tiveram de atravessar a vau, com água pela cintura, um afluente do Cávado que corria por um profundo desfiladeiro, antes de se lançar no rio mais amplo. O burro de Hogan recusou-se a entrar na água fria e revolta e o capitão propunha-se abandonar o animal, mas Javali deu-lhe uma punhada na cabeça e, enquanto o burro pestanejava, pegou nele e levou-o através da corrente. Os fuzileiros saudaram vivamente a demonstração de força, enquanto o burro, a salvo na outra margem do rio, se pôs a mostrar os dentes amarelos ao pastor de cabras que, muito simplesmente, o sovou de novo.
- É um homem útil, esse aí - disse Harper, aprovadoramente.
O enorme sargento irlandês estava todo encharcado e tão gelado e cansado como os outros homens, mas parecia gostar da dureza da viagem.
- Não é pior do que cuidar de ovelhas - afirmava ele, enquanto avança-vam. - Lembro-me de uma vez, ia eu, com o meu tio, levar um rebanho de ovelhas a Belfast, tudo carne de primeira, e, a certa altura, metade delas puseram-se a fugir como lebres, nem tínhamos chegado ainda a Letterkenny! Meu Deus, todo aquele dinheiro perdido!
- E conseguiu apanhá-las? - perguntou Perkins.
- Estás a brincar, ou quê, meu rapaz? Procurei o raio das ovelhas durante toda a noite e tudo o que me tocou foram umas chapadas do meu tio. Mas a culpa era dele, que nunca tratara nem de um coelho, mas tinha ouvido dizer que as ovelhas rendiam bom dinheiro em Belfast e, então, roubou o rebanho de um sovina de Colcarney e pensou que ia ganhar uma fortuna.
- Há lobos na Irlanda? - quis Vicente saber.
- De casaca-vermelha - disse Harper, vendo o cenho carregado de Sharpe. - O meu avô - continuou ele apressadamente - dizia que, uma vez, tinha visto uma alcateia deles em Derrynagrial. Enormes, dizia ele, com olhos vermelhos e dentes do tamanho de pedregulhos. E afirmava à minha avó que eles o tinham perseguido todo o caminho até à ponte de Glenleheel. Mas ele era um grande bêbado. Jesus, como ele despejava uma garrafa!
Javali quis saber do que estavam a falar e logo se pôs a contar as suas próprias histórias de lobos que atacavam as suas cabras. Contou como tinha lutado com um, apenas com o cajado e uma pedra afiada e que criara um filhote de lobo, mas que o padre da aldeia insistira em que o matasse, porque o diabo vivia nos lobos, e o sargento Macedo disse que era verdade e descreveu como uma sentinela, em Almeida, tinha sido comida pelos lobos, numa noite fria de Inverno.
- Há lobos em Inglaterra? - perguntou Vicente a Sharpe.
- Só os advogados.
- Richard! - admoestou-o Hogan.
Caminhavam agora para norte. A estrada pela qual os franceses iam seguir da Ponte Nova para a fronteira com a Espanha curvava para as montanhas, até encontrar outro afluente do Cávado, o Misarela, e a ponte do Saltador cruzava o alto do Misarela. Sharpe preferiria descer das montanhas para a estrada e marchar à frente dos franceses, mas Hogan nem queria ouvir falar nisso. O inimigo, dizia ele, ia fazer os dragões atravessarem o Cávado logo que a ponte estivesse reparada e a estrada não era um bom local para serem apanhados pelos cavaleiros. Prosseguiram, portanto, no terreno elevado que se tornava cada vez mais escarpado, pedregoso e difícil.
O avanço era lamentavelmente lento, pois viam-se forçados a fazer longos desvios, quando os precipícios ou as encostas de entulho lhes barravam o caminho, e, para cada quilómetro de avanço, tinham de andar três. Sharpe sabia que os franceses estavam a avançar mais depressa pelo vale, pois o avanço deles era assinalado por tiros espaçados de mosquete, provindos das montanhas que rodeavam o desfiladeiro do Misarela. Esses tiros, disparados de muito longe por homens movidos pelo ódio, soavam cada vez mais perto, até que, a meio da manhã, os franceses apareceram à vista.
À cabeça seguia uma centena de dragões, mas não muito atrás vinha a infantaria e esses homens não eram uma turba em pânico, antes marchando em boa ordem. javali, mal os viu, praguejou incoerentemente, tirou uma mancheia de pólvora da sacola e desperdiçou metade dela ao tentar metê-la toda no cano do mosquete. Calcou a bala, armou o mosquete e disparou para o vale. Não era óbvio que tivesse atingido o inimigo, mas ele bailou de regozijo e tornou a carregar o mosquete.
- Você tinha razão, Richard - disse Hogan com ar pesaroso. - Devíamos ter seguido pela estrada,
Os franceses estavam a ultrapassá-los.
- O meu Capitão é que tinha razão - disse Sharpe. - Gente como esse aí - Sharpe indicou com uma inclinação da cabeça o barbudo javali - teria passado a manhã a disparar sobre nós.
- Talvez - disse Hogan. Oscilou em cima do burro e tornou a olhar para baixo, para os franceses. - Espero é que tenham destruído a ponte do Saltador - acrescentou ele, mas não tinha um ar muito esperançado.
Tiveram de descer um covo das montanhas e de tornar a subir outra vertente semeada com os maciços rochedos arredondados. Perderam de vista o caudaloso Misarela e os franceses que seguiam na estrada ao lado do rio, mas ouviam ocasionais rajadas de mosquete que indiciavam guerrilheiros, à espreita no vale.
- Deus queira que os portugueses tenham chegado à ponte. - disse Hogan, pela décima ou vigésima vez desde o romper do dia.
Se tudo tivesse corrido bem, as forças portuguesas que avançavam para norte, paralelamente ao exército de Sir Arthur Wellesley, teriam travado os franceses em Ruivães, cortando-lhes a última estrada a este para Espanha, enviando depois uma brigada através das montanhas para fechar a via final de fuga no Saltador. Se tudo tivesse corrido bem, os portugueses deveriam estar, então, a barrar a estrada de montanha com canhões e infantaria, mas o mau tempo tinha-lhes abrandado a marcha, como abrandara a perseguição de Wellesley e, por isso, os únicos homens à espera de Soult no Saltador eram os da Ordenança.
Havia cerca de um milhar deles, mal treinados e mal armados, mas um major inglês do estado-maior português cavalgara à frente para os aconselhar.
A sua mais veemente recomendação foi que destruíssem a ponte, mas muitos dos homens que integravam a Ordenança provinham das montanhas fronteiriças e o arco aéreo que atravessava o Misarela era a via essencial do seu comércio e, por isso, recusaram-se a acatar o conselho do major Warren. Acederam, contudo, em deitar abaixo os parapeitos da ponte e em reduzir o passadiço, partindo-lhes as lajes com grandes malhos, mas insistiram em deixar ficar uma estreita faixa de pedra sobre a funda ravina, defendendo o arco, que mais parecia uma fita, do lado norte da ponte, com uma barricada de espinheiros e, por detrás desse obstáculo formidável, a cada um dos lados, barreiras de terra onde se podiam abrigar, a dispararem aos franceses com mosquetes antigos e armas de caça. E não havia artilharia.
A faixa da ponte remanescente era quanto bastava para passar uma carroça, o que permitia, uma vez escorraçados os franceses, retomar o comércio, enquanto se reconstruíam os parapeitos e o passadiço. Para os franceses, porém, essa faixa estreita significava, muito simplesmente, a salvação.
Hogan foi o primeiro a verificar que a ponte não fora completamente destruída. Desmontou do burro e praguejou desalmadamente, estendendo depois o óculo a Sharpe. Sharpe apontou o óculo aos restos da ponte. O fumo pairava já em ambas as margens, dado que a vanguarda de dragões franceses fazia fogo através da ravina e os homens da Ordenança, nos seus redutos improvisados, ripostavam. O som dos mosquetes, porém, era fraco.
- Eles vão conseguir passar - disse Hogan tristemente. - Vão perder muitos homens, mas vão abrir passagem por aquela ponte.
Sharpe ficou calado. Hogan. tinha razão, pensou ele. Os franceses, Por agora, nada faziam para tomarem a ponte, mas, sem dúvida nenhuma, estavam a reunir uma unidade de assalto e isso significava que ele tinha de descobrir um sítio donde os seus fuzileiros pudessem atirar sobre Christopher, quando ele atravessasse o estreito arco de pedra. Não havia sítio nenhum daquele lado do rio, mas, na margem oposta do Misarela, havia uma elevada plataforma rochosa, onde se encontrava uma centena ou mais de homens da Ordenança. A plataforma ficava a uns duzentos metros da ponte, demasiado longe para os mosquetes portugueses, mas proporcionava uma posição vantajosa para os rifles e, se Christopher chegasse ao meio da ponte, seria saudado por uma boa dúzia de balas.
O problema era chegar à plataforma. Não estava longe, ficava a cerca de um quilómetro, mas, entre Sharpe e aquele tentador terreno elevado havia o Misarela.
- Temos de atravessar o rio - disse Sharpe.
- Quanto tempo é que isso vai levar? - perguntou Hogan.
- Vai levar o tempo que levar - disse Sharpe. - Não há outra alternativa. O tiro dos mosquetes soava mais intensamente, estalando como lenha a arder, para depois esmorecer, antes de retomar intensidade crescente. Os dragões aglomeravam-se na margem sul, fustigando os defensores, mas Sharpe nada podia fazer para os ajudar.
Assim, para já, afastou-se dali.
No vale do Cávado, a uns vinte quilómetros da guarda avançada que lutava com a Ordenança através da ravina do Misarela, as primeiras tropas do exército britânico alcançava a retaguarda de Soult, que protegia os homens e as mulheres que ainda estavam a atravessar a Ponte Nova. As tropas britânicas eram dragões ligeiros e pouco mais podiam fazer do que trocar fogo de carabina com as tropas francesas que se arrastavam pela estrada, enchendo o vale entre o rio e as colinas a sul. Porém, não muito longe atrás dos dragões, seguia a Brigada da Guarda e, atrás dela, avançavam dois canhões de três libras, peças que disparavam projécteis tão leves que lhes chamavam brinquedos, mas, naquele dia, em que mais ninguém dispunha de artilharia, os dois brinquedos valiam o seu peso em ouro.
A retaguarda francesa esperava, enquanto, vinte quilómetros à frente, a vanguarda se preparava para o assalto ao Saltador. Iam assaltar a ponte dois batalhões de infantaria, mas era óbvio que seriam massacrados, se a barreira de espinheiros não fosse removida da outra extremidade da ponte. A barreira tinha mais de um metro de altura, outro tanto de espessura e era composta por duas dúzias de espinheiros, atados em conjunto e com toros em cima, constituindo um obstáculo poderoso. Foi, por isso, proposta uma unidade suicida.
Uma unidade suicida era um grupo de homens dispostos a morrer, mas que, com o seu sacrifício, abriam caminho aos seus camaradas Esses bandos suicidas eram, outrora, lançados contra as brechas fortemente defendidas das fortalezas inimigas. Ali, porém, tinham de atravessar os restos estreitos de uma ponte e de enfrentar o flagelo dos tiros de mosquetes e, antes de morrerem, tinham de abrir uma brecha na barreira de espinheiros.
O major Dulong, do 31º de Infantaria Ligeira, a medalha da Legião de Honra a brilhar-lhe no peito, ofereceu-se para comandar o grupo de homens. Agora não podia aproveitar a escuridão e o inimigo era muito mais numeroso, mas, ainda assim, a sua face dura não mostrava apreensão, ao envergar um par de luvas e ao prender os cordões do sabre ao pulso, por forma a não perder a arma no caos que previa estabelecer-se ao afastarem os espinheiros. O general Loison, comandante da vanguarda francesa, ordenou que todos os homens disponíveis se dispusessem na margem do rio, para submergirem a Ordenança com fogo de mosquete, de carabina e, até, de pistola, e, quando o ruído dos tiros aumentou para uma intensidade ensurdecedora, Dulong ergueu o sabre e apontou-o depois para a frente, em sinal de avançar.
A companhia de assalto do seu próprio regimento correu através da ponte. Apenas três homens cabiam lado a lado na estreita faixa de pedra e Dulong estava na primeira fila. A Ordenança rugiu o seu grito de guerra e uma rajada explodiu da primeira barreira de terra. Dulong foi atingido no peito. Ouviu a bala embater na medalha e, depois, ouviu distintamente o estalo de uma costela a partir-se. Sabia que a bala se devia ter alojado num pulmão, mas não sentiu dor. Tentou gritar, mas estava sem fôlego, contudo começou a empurrar os espinheiros com as mãos enluvadas. Mais homens surgiam, amontoando-se no passadiço estreito da ponte. Um homem escorregou, caindo a gritar na branca turbulência do Misarela. As balas enfiavam-se no grupo suicida, o ar era só fumo, ruído ensurdecedor e assobiar de balas, mas Dulong conseguiu atirar um pedaço da barreira para o rio, abrindo uma brecha nos espinheiros por onde podia passar um homem, suficientemente grande para salvar um exército encurralado. Avançou pela brecha, sabre em riste, cuspindo sangue ao respirar, Um grito enorme soou atrás dele, quando o batalhão de apoio correu pela ponte de baioneta calada. Os homens sobreviventes de Dulong afastaram o resto da barreira de espinheiros, uma dúzia de voltigeurs mortos foram lançados ao rio sem cerimónias e, de repente, o Saltador estava negro de tropas francesas. Soltavam gritos de guerra ao atacarem os homens da Ordenança, muitos dos quais tentavam recarregar os mosquetes, pondo-se, depois, a fugir. Centenas de homens corriam para oeste, escalando as montanhas para escaparem às baionetas. Dulong parou junto da barreira de terra mais próxima e dobrou-se, o sabre balançando pelos cordões presos ao pulso, uma longa baba de sangue misturado com saliva a pingar-lhe da boca. Dulong fechou os olhos e pôs-se a rezar.
- Uma padiola! - gritou um sargento. - Façam uma padiola. Tragam um médico!
Dois batalhões franceses escorraçaram a Ordenança da ponte. Um punhado de portugueses ainda permaneciam numa elevada plataforma rochosa à esquerda da estrada, mas estavam demasiado longe para o fogo dos seus mosquetes causarem outro efeito que não o ruído incómodo e, por isso, os franceses deixaram-nos lá ficar, a observarem a salvação de um exército.
Porque o major Dulong, valorosamente, tinha aberto as mandíbulas da última armadilha e a estrada para norte estava livre.
Sharpe, no alto das ásperas montanhas a sul do Misarela, ouviu o matraquear furioso dos mosquetes e percebeu que os franceses estavam a atacar a ponte e fez votos para que a Ordenança conseguisse sustê-los, mas sabia que isso não ia acontecer. Eram soldados amadores, os franceses eram profissionais e, embora morressem alguns, os franceses iam tomar a ponte sobre o Misarela. E, uma vez passadas as primeiras tropas, todo o exército as seguiria.
Dispunha, pois, de muito pouco tempo para atravessar o rio revolto que corria no fundo da ravina rochosa. Sharpe teve de percorrer uns dois quiló-metros para montante, para encontrar um local onde pudessem ultrapassar as encostas íngremes e a corrente engrossada pela água da chuva. O burro tinha de ser abandonado, pois a ravina era tão a pique que nem mesmo javali conse-guiria levar o burro montanha abaixo e pela água tumultuosa adentro. Sharpe ordenou aos homens para retirarem as correias dos rifles e dos mosquetes, atando-as umas às outras para fazerem uma corda comprida. Javali, despre-zando esse auxílio, escorregou encosta abaixo para o Misarela, atravessou o rio a vau e trepou para a outra margem, mas Sharpe receava perder algum dos homens com uma perna partida naquelas montanhas e avançou mais lentamente. Os homens desceram a encosta utilizando a corda como apoio, passando depois as armas. O rio pouco mais tinha do que uns dez metros de largura, mas era fundo e a água fria embatia com força nas pernas de Sharpe, à cabeça da coluna. Os calhaus do fundo eram escorregadios e irregulares. Tongue caiu e submergiu uns metros rio abaixo, antes de conseguir erguer-se para a margem.
- Desculpe, meu Tenente - conseguiu ele dizer, os dentes a tremer e a água a escorrer-lhe da cartucheira.
Levaram quarenta minutos a atravessar o rio e a trepar para o outro lado, onde Sharpe, em cima de um rochedo, nada mais enxergava do que as montanhas de Espanha envoltas em nuvens.
Derivaram para leste, na direcção da ponte, quando recomeçou a chover. Durante toda a manhã, os aguaceiros tinham caído ao redor deles, mas, desta vez, descarregou um directamente sobre eles e, logo a seguir, os trovões urraram no céu. Ao longe, para sul, havia uma aberta de sol a iluminar as montanhas lívidas, mas o céu por cima deles estava a ficar cada vez mais escuro, a chuva engrossava e Sharpe sabia que ia ser difícil disparar os rifles com aquela chuva copiosa. Mas não disse nada. Estavam todos gelados e desanimados, os franceses escapuliam-se e Christopher podia já ter passado pelo Misarela, a caminho de Espanha.
À esquerda deles, a estrada, coberta de erva, subia para as últimas montanhas portuguesas e eles viam os dragões e a infantaria a açodarem-se nas tortuosas e íngremes bermas, mas esses homens estavam a um quilómetro de distância e a plataforma rochosa estava mesmo ali, à frente deles. javali já lá estava no cimo e avisara os homens da Ordenança que aguardavam no meio dos fetos e dos rochedos que a tropa de uniforme que se aproximava era de amigos. Os portugueses, cujos mosquetes eram inúteis com aquela chuva, tinham-se limitado a lançar rochedos encosta abaixo, pouco incomodando os franceses que atravessavam a corda de salvação sobre o Misarela.
Sharpe sacudiu os homens da Ordenança que o queriam vitoriar e estendeu-se na aba da plataforma. A chuva fustigava as rochas, escorria pelo penhasco abaixo e tamborilava-lhe no quépi. O estrondo de um trovão troou por cima dele, seguido por outro estrondo a sudoeste, mas Sharpe reconheceu que o segundo estrépito era o troar de peças. Era fogo de canhões e esse som queria dizer que o exército de Sir Arthur Wellesley devia ter alcançado os franceses e que a sua artilharia tinha aberto fogo, mas esse combate desenrolava-se a quilómetros de distância atrás da Ponte Nova e ali, no último obstáculo, os franceses estavam a escapar-se.
Hogan, a resfolegar, com o esforço de trepar ao penhasco, deixou-se cair ao lado de Sharpe. Estavam tão perto da ponte que conseguiam distinguir os bigodes nas caras dos soldados franceses e o padrão às riscas castanhas e pretas da saia comprida de uma mulher. A mulher caminhava ao lado do seu homem, um filho nos braços, carregando-lhe o mosquete e com um cão preso à cintura por uma corda. Atrás deles, um oficial puxava um cavalo a coxear.
- É um canhão, o que eu estou a ouvir? - perguntou Hogan. É, sim, meu Capitão.
- Devem ser os três libras - disse Hogan. - Dava-nos jeito um par desses brinquedos aqui.
Mas não tinham nenhum. Apenas Sharpe, Vicente e os homens deles. E um exército que se escapulia.
Lá para trás, em Ponte Nova, os artilheiros tinham conseguido instalar, à força de braço, os dois canhões de brinquedo na crista de um outeiro, sobranceiro à retaguarda francesa. Ali não estava a chover. Ocasionalmente, caía das montanhas uma chuvada, mas os mosquetes ainda disparavam. A Brigada da Guarda carregou as armas, armou as baionetas e formou para avançar em coluna de companhias.
E as peças, os menosprezados três libras, abriram fogo sobre os franceses. Os pequenos projécteis, pouco maiores do que uma laranja, fustigavam as espessas fileiras, ressaltando nas rochas e matando mais soldados franceses, a banda dos Guardas de Coldstream pôs-se a tocar Rule Britannia, os estandartes foram desfraldados ao vento húmido e os canhões de três libras dispararam de novo, cada tiro deixando um longo jacto de sangue no ar, como se uma invisível faca gigante golpeasse as fileiras francesas. As duas companhias ligeiras dos Guardas e uma companhia das casacas-verdes do 60º, o Royal American Rifles, avançavam, por uma amálgama de pedregulhos e de muros baixos, sobre o flanco esquerdo dos franceses e os mosquetes e os rifles Baker começaram a cobrar a sua quota-parte de sargentos e de oficiais franceses. Homens do famoso 4º de Infantaria Ligeira, o regimento designado por Soult para proteger a sua retaguarda, dada a sua reconhecida valentia, correram para repelir os ingleses, mas os rifles eram demasiado mortíferos para eles. Os voltigeurs viram-se obrigados a recuar, pois nunca tinham enfrentado um fogo tão preciso àquela distância.
- Avance com eles, CampbelI, avance com eles! - gritou Sir Arthur Wellesley para o comandante da brigada.
E o primeiro batalhão dos Guardas de Colcistream e o primeiro batalhão do 3º Regimento dos Guardas de Infantaria marcharam para a ponte. As peles de urso que envergavam faziam-nos parecer enormes, os tambores rufavam o mais que podiam, os rifles estrepitavam e os dois pequenos canhões recuavam no rodado depois de dispararem, abrindo novos sulcos sangrentos nas compridas linhas francesas.
- Eles vão ceder - disse o coronel Walters.
O coronel Walters servira todo o dia de guia a Sir Arthur Wellesley e observava a retaguarda francesa pelo óculo. Via-os a vacilar, via os sargentos a correrem à frente e a trás, metendo os homens na fila.
- Eles vão ceder, meu General.
- Esperemos que sim - disse Sir Arthur -, esperemos que sim.
E desejaria saber o que se passava lá à frente, se a via de fuga dos franceses teria sido cortada. já tinha alcançado uma vitória, mas queria conhecer a dimensão dela,
Os dois batalhões de Guardas, ambos com o dobro do tamanho de um batalhão comum, marchavam firmemente e as baionetas, no vale obscurecido pelas nuvens, eram duas mil manchas de luz, vermelhas, brancas, azuis, douradas, sobre as cabeças dos soldados. E, em frente deles, os franceses estremeciam, os canhões disparavam e a névoa de sangue brilhava em duas longas linhas, indicando onde as balas dos canhões dizimavam as fileiras.
A estrada não estava bloqueada porque uma aérea faixa de pedra ligava as margens do Misarela, e uma fila aparentemente infindável de franceses passava pelo arco corcunda. Sharpe observava-os. Caminhavam como homens derro-tados, cansados e desanimados, e Sharpe lia-lhes na cara o ressentimento em relação aos oficiais de engenharia que os apressavam através da ponte, Em Abril, aqueles mesmos homens tinham conquistado o Norte de Portugal e tinham pensado que iam avançar para sul e tomar Lisboa. Tinham saqueado a região ao norte do rio Douro, pilhando casas e igrejas, violando mulheres, matando homens, pavoneando-se como galos nas capoeiras. Agora, porém, tinham sido derrotados, destroçados e escorraçados e o som distante dos dois canhões dizia-lhes que o ordálio ainda não terminara. E, lá no alto, nos penhascos, viam dezenas de homens irados, à espera dos atrasados, para logo afiarem as facas e acenderem as fogueiras. E todos os franceses tinham ouvido falar dos cadáveres horrivelmente mutilados, encontrados nas altas montanhas.
Sharpe limitava-se a observá-los. De quando em vez, a ponte era liberta, para um cavalo recalcitrante ser coagido a passar na estreita plataforma. Os cavaleiros eram peremptoriamente obrigados a desmontar e dois hussardos estavam a vendar os cavalos, para os conduzir pelo passadiço remanescente. A chuva amainou, para logo engrossar de novo. Estava a escurecer, um lusco-fusco extemporâneo provocado por nuvens negras e cortinas de chuva. Um general, com o o uniforme pesado com as guarnições encharcadas, seguia o seu cavalo vendado pela ponte. A água fervilhava lá no fundo, ressaltando nas rochas da ravina, formando poças, espumando Cávado abaixo. O general apressou-se a atravessar a ponte e, depois, teve uma certa dificuldade para montar. Os homens da Ordenança injuriaram-no e atiraram-lhe uma rajada de pedras, mas os projécteis ressaltaram meramente na encosta e rolaram inocuamente para a estrada.
Hogan observava os franceses amontoados antes da ponte, através do óculo que constantemente enxugava.
- Onde é que anda, Mister Christopher? - perguntava ele amargamente.
- Se calhar, o sacana já lá vai à frente - disse Harper, em tom neutro. Se eu fosse a ele, meu Capitão, ia à frente. Raspar-me, era o que eu quereria.
- Talvez - reconheceu Sharpe. - Talvez.
Achava que Harper tinha provavelmente razão e que Christopher podia já estar em Espanha com a vanguarda francesa, mas não havia maneira de o saber.
- Vamos ficar aqui de atalaia, até ao cair da noite, Richard - sugeriu Hogan, num tom calmo que não escondia o seu desapontamento.
Sharpe avistava a estrada até uns dois quilómetros atrás dele, onde se amontoavam homens, mulheres, cavalos e mulas, todos a açodarem-se para o gargalo do Saltador. Duas macas passaram na ponte e, à vista dos feridos, logo os homens da Ordenança soltaram gritos de triunfo no penhasco. Outro ferido, com uma perna partida, coxeava apoiado numa muleta improvisada. Estava a morrer, mas era melhor esforçar-se, com as mãos cheias de bolhas e uma perna a sangrar, do que ficar para trás e ser apanhado pelos guerrilheiros. A muleta escorregou-lhe na pedra da ponte e ele caiu pesadamente, o infortúnio do homem provocando outra rajada de pragas. Um soldado de infantaria francês apontou o mosquete aos portugueses escarnecedores, mas, quando premiu o gatilho, a faísca caiu sobre pólvora molhada, não produzindo outro efeito senão o de aumentar os apupos.
E, de repente, Sharpe avistou-o. Viu Christopher. Ou, melhor dizendo, ele viu primeiro Kate, reconheceu-lhe o oval da cara, o contraste da pele branca com o cabelo preto, a beleza dela a transparecer, mesmo naquele precoce crepúsculo de horror e de chuva, e viu, surpreendido, que ela envergava um uniforme francês, o que era muito estranho, mas depois viu Christopher e Williamson ao lado do cavalo dela. O coronel estava vestido à civil e imiscuía-se, empurrava, abria caminho pela multidão, para chegar à ponte e atravessá-la, para se ver a salvo dos perseguidores. Sharpe ergueu o óculo de Hogan, limpou-lhe as lentes e olhou por ele. Christopher pareceu-lhe envelhecido, a cara sombria e cinzenta. Depois, desviou o óculo para a direita, viu a carranca de Williamson e sentiu-se tomado por uma vaga de pura cólera.
- Conseguiu descobri-lo - perguntou Hogan.
- Sim, ele está ali - disse Sharpe.
Entregou o óculo a Hogan, puxou o cano do rifle para fora da capa nova de couro e apoiou-o numa rocha.
- É ele, não há dúvida - disse Harper, que acabara de distinguir Christopher.
- Onde? - quis Hogan saber.
- Além, aí a uns vinte metros da ponte, meu Capitão - disse Harper ao lado do cavalo. E é Miss Kate que vai montada nele. E, meu Deus! Harper acabava de ver Williamson. - Aquele é...
- Sim - disse Sharpe secamente, tentado em apontar o rifle ao desertor, que não a Christopher.
Hogan estava a olhar pelo óculo.
- É uma bela rapariga, sim senhor - disse ele.
- Faz-nos o coração bater mais depressa, isso é que faz - disse Harper. Sharpe mantinha o fecho do rifle tapado, para manter a pólvora seca. Retirou, então, a capa de couro, armou o cão e apontou a arma a Christopher e, nesse preciso momento, os trovões urraram no céu e a chuva, que já era copiosa, aumentou de malevolência. Caía em torrente, fazendo Sharpe praguejar. Agora, nem conseguia ver Christopher! Ergueu o rifle e olhou lá para baixo, para o aglomerado de manchas, para o ar cheio de riscas de prata, para as nuvens desfazendo-se em chuva, para o dilúvio próprio para um homem construir uma barca. Meu Deus! E ele não conseguia distinguir nada! E, então, uma faixa de luz cortou o céu em dois, a chuva retumbando como cascos do demónio e Sharpe apontou o rifle para o céu e puxou o gatilho. Ele sabia o que ia acontecer e foi o que aconteceu. A faísca apagou-se, o rifle era inútil e, por isso, Sharpe largou-o, no chão, ergueu-se e puxou da espada.
- Que raio vai você fazer? - perguntou-lhe Hogan.
- Vou reaver o meu óculo - disse Sharpe. E correu para os franceses.
O 4º Regimento de Infantaria Ligeira, tido como uma das melhores unidades de infantaria do exército de Soult, soçobrou e os dois regimentos de cavalaria soçobraram com ele. Os três regimentos tinham-se posicionado bem, dominando uma pequena cumeada que cruzava a estrada, próximo da Ponte Nova, mas, perante a Brigada da Guarda, os constantes impactos das balas de rifle e os disparos mortíferos do par de canhões, a retaguarda francesa cedera. A sua missão era travar a perseguição inglesa, retirar depois lentamente e destruir a reparada Ponte Nova depois de a passarem, mas, em vez disso, fugia.
Dois mil homens e mil e quatrocentos cavalos convergiam para a improvi-sada ponte sobre o Cávado. Ninguém tentou lutar. Voltaram costas ao inimigo, fugindo, e a grande massa deles, escura e em pânico, amontoava-se na margem do rio, quando os Guardas apareceram atrás deles.
- Façam avançar os canhões!
Sir Arthur esporeou o cavalo, conduzindo-o para junto dos artilheiros, cujas peças haviam queimado a erva em leque, em frente dos canos.
- Levem-nos para cima! - gritava ele. - Avancem para cima! Não os larguem!
Começava a chover mais, o céu estava a escurecer e os relâmpagos faiscavam sobre as montanhas a norte.
As peças foram arrastadas uns cem metros mais para a frente e depois alçadas pela encosta sul do vale, até uma pequena plataforma, a partir da qual podiam lançar os projécteis redondos para o meio do amontoado de franceses. A chuva chiava e fervia nos canos das peças, à medida que os disparos emba-tiam e o sangue adejava numa névoa vermelha, sobre a destroçada retaguarda. O cavalo de um dragão soltou um relincho agudo e recuou, matando um homem com os cascos, tais manguais. Mais tiros embatiam no alvo. Uns quantos franceses, os que estavam mais atrás e sabiam que não iam alcançar a ponte vivos, voltaram-se, lançaram os mosquetes ao chão e ergueram os braços. Os Guardas abriram fileiras para deixarem passar os prisioneiros, tornaram a cerrar fileiras e dispararam uma rajada que perfurou a retaguarda da turba francesa. Os fugitivos comprimiam-se, empurravam-se, lutavam para abrir caminho para a ponte e a pressão no passadiço desprovido de parapeitos era tão grande que homens e cavalos eram empurrados para fora dele, caindo desamparados ao Cávado, soltando gritos lancinantes. E os canhões continua-vam a massacrá-los, disparando para a própria Ponte Nova, ensanguentando os esteios e os troncos derrubados que eram a única salvação da retaguarda. Os tiros fizeram cair mais homens e cavalos do passadiço desprotegido, em tão grande número que os mortos e os agonizantes formavam já uma barragem, por debaixo da ponte. O ponto alto da invasão francesa de Portugal fora uma ponte no Porto, onde centenas de pessoas, em pânico, se tinham afogado, agora, os franceses encontravam-se noutra ponte quebrada e os mortos do Douro estavam a ser vingados. E as peças continuavam a fustigar os franceses, ouvindo-se de quando em vez o disparo de um mosquete ou de um rifle, apesar da chuva. Os ingleses eram uma linha vingativa a convergir para o horror da Ponte Nova. Mais franceses se rendiam. Alguns choravam, de vergonha, de desânimo, de fome e de frio, ao arrastarem-se para trás. Um capitão, do 4º de Infantaria Ligeira, lançou a espada ao chão e depois, desgostoso, pegou nela e passou a fina lâmina pelo joelho, antes de se entregar.
- Cessar fogo! - gritou um oficial dos Coldstreams.
Um cavalo agonizante gemia. O fumo dos mosquetes e dos canhões desvanecia-se na chuva e o leito do rio era uma lástima, com os gemidos dos homens e dos cavalos que tinham partido os ossos ao caírem do passadiço da ponte. A barragem de agonizantes e de mortos era tão alta que o Cávado estava a encher atrás deles e a inundar as margens a montante, embora um regato de água ensanguentada se escapasse pela brecha humana. Um francês ferido tentou arrastar-se para fora do rio e morreu justamente quando alcançava a margem, onde os homens da banda dos Coldstreams estavam a recolher os inimigos feridos. Os médicos enfiavam os escalpelos nas bolsas de couro que tinham à cintura e bebiam goladas fortificantes de brande. Os Guardas retiravam as baionetas da ponta dos mosquetes e os artilheiros descansavam ao lado das pequenas peças.
A perseguição terminara e Soult fora escorraçado de Portugal.
Sharpe desceu impetuoso pelo penhasco, saltando temerariamente de rocha para rocha e implorando que não escorregasse no musgo encharcado. A chuva continuava a cair fortemente e os trovões estavam a abafar o som dos canhões para os lados da Ponte Nova. Estava a ficar cada vez mais escuro, crepúsculo e temporal a darem-se as mãos e a lançarem trevas infernais sobre as montanhas agrestes do Norte de Portugal, embora fosse a tremenda intensidade da chuva o que mais contribuísse para obscurecer a ponte. Sharpe, contudo, quando alcançou o sopé do penhasco, onde o terreno era mais plano, verificou que o Saltador se encontrava quase vazio. Um cavalo estava a ser puxado pela arreata pelo estreito passadiço e o animal travara os homens atrás dele e, então, Sharpe viu um hussardo a conduzir o cavalo e Christopher, Williamson e Kate seguiam logo atrás do cavalo. Uns soldados de infantaria que estavam a afastar-se da ponte, quando Sharpe surgiu do meio da chuva de espada em riste, olharam para ele, atónitos, e um deles avançou para o interceptar, mas Sharpe, em duas curtas palavras, disse-lhe o que tinha a fazer e o homem, mesmo sem perceber inglês, teve o bom senso de obedecer.
Sharpe, logo depois, estava no Saltador e o hussardo que conduzia o cavalo limitou-se a olhar pasmado para ele. Christopher viu-o e voltou-se para fugir, mas havia agora mais homens no passadiço e, por isso, não havia possibilidade de escapar pelo outro lado da ponte.
- Matem-no! - gritou Christopher, tanto para Williamson, como para o hussardo.
Foi o francês quem, obedientemente, começou a desembainhar o sabre, mas a espada de Sharpe assobiou à chuva, a mão do homem que empunhava o sabre foi-lhe quase cortada do pulso e, depois, Sharpe enfiou a espada no peito do hussardo, ouviu-se um grito e o cavaleiro caiu ao Misarela. O cavalo, aterrado com os relâmpagos e com o piso escorregadio da ponte, deu um grande relincho e, num salto, passou por Sharpe, quase o derrubando para fora do passadiço. Os cascos do cavalo produziram faíscas nas pedras da ponte e o animal desapareceu. Sharpe ficou cara a cara com Christopher e Williamson, na estreita plataforma do Saltador.
Kate gritou, ao ver a comprida espada.
- Corra para a montanha! - gritou-lhe Sharpe. - Corra, Kate, corra! E tu, meu sacana, dá-me o meu óculo!
Christopher estendeu o braço para agarrar Kate, mas Williamson avançou, passando pelo coronel e afastando-lhe a mão. Kate, vendo a segurança a uns passos de distância, teve o bom senso de correr, passando por Sharpe. Williamson tentou agarrá-la, mas, vendo a espada de Sharpe a apontar para ele, conseguiu parar o bote com o seu mosquete francês. O embate da espada e do mosquete empurrou Williamson um passo para trás e Sharpe estava já a segui-lo, rugindo, a espada a menear como a língua de uma serpente, para forçar Williamson a recuar outro passo, mas Christopher empurrou o desertor outra vez para a frente.
- Mata-o! - berrou ele para Williamson.
E o desertor fez o que pôde, balançando o mosquete como um cacete, mas Sharpe recuou, esquivando-se ao golpe terrível, depois avançou e a espada, insensível à chuva, atingiu Williamson de lado na cabeça, quase lhe arrancando uma orelha. Williamson cambaleou. O chapéu de couro, de abas largas, amortecera o ímpeto da espada, mas a potência do bote deixou Williamson a balançar para a beira do passadiço e Sharpe continuou a atacá-lo e, desta vez, com uma estocada, a ponta da lâmina cravou-se na casaca-verde do desertor, embateu numa costela e atirou Williamson da ponte abaixo. Williamson soltou um grande berro ao cair e Christopher viu-se sozinho com Sharpe, em cima do elevado arco do Saltador.
Christopher ficou de olhos postos no inimigo de casaca-verde. Nem queria acreditar no que via. Tentou falar, porque as palavras tinham sido sempre a sua melhor arma, mas, agora, fora atingido pela mudez. Sharpe avançou para ele. Então, surgiu um grupo de soldados franceses atrás de Christopher, que iam obrigá-lo a avançar ao encontro da espada de Sharpe e Christopher, sem coragem para empunhar a sua própria espada, no cúmulo do desespero, seguiu Williamson para a escura ravina encharcada de chuva do Misarela, saltando lá para baixo.
Vicente, Harper e o sargento Macedo haviam seguido Sharpe montanha abaixo e encontraram Kate.
- Tome conta dela, meu Tenente! - disse Harper, dirigindo-se a Vicente. Apressou-se, depois, com o sargento Macedo, a seguir para a ponte, a tempo de ver Sharpe saltar do passadiço.
- Meu Tenente! - gritou Harper. - Oh, meu Deus, que raio de sacana louco! - praguejou ele.
Harper e Macedo atravessaram a estrada, justamente quando uma corrente de soldados de infantaria de uniforme azul saíam da ponte, mas, se alguns dos franceses acharam estranho encontrarem soldados inimigos na margem do Misarela, não deram sinal disso. Queriam pura e simplesmente escapar e apressaram-se a seguir para norte, em direcção a Espanha, enquanto Harper percorria a margem do rio, espreitando lá para baixo, em busca de Sharpe. Via cavalos mortos no meio das rochas, meio submersos na água cheia de espuma, via os corpos estendidos de uma dúzia de soldados franceses que haviam caído do alto passadiço da ponte do Saltador, mas nada via da capa escura de Christopher, nem da casaca-verde de Sharpe.
Williamson tinha caído directamente na parte mais funda da ravina e, por sorte, tinha mergulhado num fundão revolto que lhe amortecera a queda e fora arremessado contra o corpo de um cavalo que o travara. Christopher tivera menos sorte. Caíra perto de Wilhamson, mas a perna esquerda embatera-lhe numa rocha e o tornozelo ficara de repente uma massa dolorosa, naquela água gelada do rio. Agarrou-se a Williamson e pôs-se a olhar desesperadamente em redor e, não vendo indícios de perseguição, considerou que Sharpe não poderia ficar muito tempo na ponte, em face da retirada dos franceses.
- Leva-me para a margem - disse ele a Williamson. - Acho que tenho o tornozelo partido.
- Vai ficar bom, meu Coronel - disse Williamson. - Eu estou aqui. Wilhamson pôs um braço em volta da cintura de Christopher e ajudou-o a subir para a margem.
- Onde é que está Kate? - perguntou Christopher.
- Ela fugiu, meu Coronel, ela fugiu, mas nós vamos encontrá-la. Vamos encontrá-la. Olhe, aqui estamos, meu Coronel, vamos subir por aqui. Williamson içou Christopher para cima de umas rochas e olhou em volta, em busca de um caminho para escalar a encosta da ravina e o que viu foi Sharpe. Williamson praguejou.
- O que é que se passa?
Christopher estava com demasiadas dores para notar fosse o que fosse.
- É o maldito daquele sacana de casaca-verde - disse Williamson, puxando do sabre que tirara a um oficial francês morto, na estrada perto do seminário. - É o raio daquele Sharpe - explicou ele.
Sharpe escapara ao engrossar da coluna francesa através da ponte, saltando para a encosta da ravina, onde um rebento de tojo se prendia a uma saliência da rocha. O ramo de tojo inclinou-se com o peso dele, mas aguentou-se e Sharpe conseguiu apoiar um pé numa rocha molhada por baixo dele e, depois, saltar para outro rochedo, onde os pés lhe fugiram, escorregando pela face arredondada do rochedo e indo cair ao rio, mas ainda com a espada na mão. Em frente dele, estava Williamson e, ao lado do desertor, estava um encharcado e aterrorizado Christopher. A chuva silvava em redor deles, a escura ravina extravagantemente iluminada pelos relâmpagos.
- O meu óculo - disse Sharpe a Christopher.
- Claro, Sharpe, claro - disse Christopher, metendo a mão, por debaixo da aba encharcada da capa, num dos bolsos e tirando o óculo. - Está intacto! - disse ele vivamente. - Era apenas emprestado.
- Coloca-o em cima desse rochedo - ordenou-lhe Sharpe.
- Não tem nem uma arranhadela - disse Christopher, colocando o óculo precioso em cima do rochedo. - E belo trabalho, nosso Tenente! Christopher deu uma cotovelada em Williamson, que se limitou a manter os olhos fixos em Sharpe.
Sharpe deu um passo em direcção aos dois homens, mas ambos recuaram. Christopher tornou a empurrar Williamson, tentando induzi-lo a atacar Sharpe, mas o desertor era prudente. A lâmina mais comprida que alguma vez utilizara fora uma baioneta, mas essa experiência não o habilitava a lutar com um sabre, especialmente contra uma mortífera lâmina como a pesada espada de cavalaria que Sharpe empunhava. Williamson recuou, esperando por uma oportunidade.
- Ainda bem que está aqui, Sharpe - disse Christopher. - Eu andava a pensar como escapar aos franceses, mas eles vigiavam-me bem, como deve calcular. Eu tenho muita coisa para contar a Sir Arthur. Ele tem feito um belo trabalho, não tem?
- Tem, sim - concordou Sharpe -, e ele quer-te morto.
- Não seja ridículo, Sharpe. Nós somos ingleses! - Christopher tinha perdido o chapéu quando saltara e a chuva estava a colar-lhe o cabelo ao crânio. - Nós não assassinamos as pessoas.
- Eu sim - disse Sharpe, dando um passo para a frente, ao mesmo tempo que Christopher e Williamson recuavam.
Christopher observou Sharpe a apanhar o óculo.
- Está intacto, como vê. Eu tive muito cuidado com ele.
Tinha de gritar, para ser ouvido sobre a chuva que espumava e sobre o barulho do rio a embater nas rochas. Empurrou Williamson de novo para a frente, mas o homem recusou-se obstinadamente a atacar e Christopher, vendo-se encurralado, num rochedo escorregadio entre a escarpa e o rio, nessa situação extrema deixou, por fim, de tentar salvar-se falando com Sharpe e, muito simplesmente, deu um grande empurrão no desertor.
- Mata-o! - gritou ele para Williamson. - Mata-o!
A grande impulsão nas costas surpreendeu Williamson que, no entanto, ergueu o sabre e o desfechou à cabeça de Sharpe. Ressoou um grande tinido, quando as duas lâminas se encontraram. Sharpe, então, espetou um pontapé no joelho esquerdo do desertor, pontapé que fez a perna de Williamson dobrar-se. Depois, Sharpe, que aparentava não estar a fazer grande esforço, deslizou a espada pelo pescoço de Williamson, obrigando-o a inclinar-se para a direita e levando a lâmina a cortar a casaca-verde do desertor e a introduzir-se-lhe na barriga. Sharpe torceu a lâmina para evitar que ficasse presa pela sucção da pele, retirou-a e ficou a ver o agonizante Williamson a tombar para o rio.
- Detesto desertores - disse Sharpe. - Odeio os malditos desertores. Christopher vira o seu homem ser derrotado e como Sharpe o fizera sem grande esforço.
- Sharpe, você não está a perceber - disse ele.
Tentou pensar nas palavras que poderiam pôr Sharpe a pensar, fazendo-o recuar, mas a mente dele estava em pânico e as palavras não lhe vinham. Sharpe observava Williamson. Por um momento, o homem agonizante tentou sair do rio, mas o sangue corria-lhe vermelho do pescoço e da barriga e, de repente, baqueou para trás e a cara horrenda afundou-se na agua.
- Eu detesto desertores - repetiu Sharpe, olhando depois para Christopher. - Essa espada serve para mais alguma coisa para além de te palitar os dentes, coronel de um raio?
Christopher, estarrecido, sacou a sua fina espada da bainha. Ele treinara esgrima. Gastara bom dinheiro, do pouco de que dispunha, na sala de armas de Horace Jackson, na Jermyn Street, onde aprendera as finas graças da esgrima e granjeara, até, os lisonjeiros louvores do próprio grande mestre Jackson. Porém, uma coisa era esgrimir no soalho marcado a giz da Jermyn Street e outra, bem diferente, era enfrentar Richard Sharpe na ravina do Misarela.
- Não, Sharpe! - exclamou ele, quando o fuzileiro avançou, erguendo depois a espada numa parada atemorizada, quando a comprida espada de Sharpe faiscou na direcção dele.
A estocada de Sharpe fora apenas uma incitação, uma experiência para ver se Christopher iria lutar como um homem, mas Sharpe tinha os olhos fitos nos do seu inimigo e apercebeu-se de que ele ia deixar-se matar como um cordeiro.
- Luta, meu sacana!
Sharpe lançou nova estocada e de novo Christopher esboçou uma débil defesa.
Porém, o coronel, então, enxergou um rochedo no meio do rio e pensou que podia saltar para lá e, do rochedo, alcançar a margem oposta e pôr-se a salvo. Lançou a espada num bote perigoso, para ganhar espaço para o salto, voltou-se e saltou, mas o tornozelo partido cedeu, o rochedo escorregou-lhe sob os pés e teria caído ao rio, não fora Sharpe agarrá-lo pelo colete, depositando-o no chão de rocha, a espada inútil na mão e o seu inimigo a olhar lá de cima para ele.
- Não! - implorou ele. - Não. - Christopher olhava para cima, os olhos fixos em Sharpe. - Você salvou-me, Sharpe - disse ele, apercebendo-se do que acontecera e com uma súbita esperança a apossar-se dele. - Você salvou-me.
- Não podia vasculhar-te os bolsos, coronel, se estivesses debaixo de água - disse Sharpe.
E, então, a boca torceu-se-lhe de raiva, enquanto impulsionava a espada para baixo.
Christopher morreu na saliência de rocha junto ao fundão onde Williamson se afundara. O remoinho sobre o corpo do desertor cobriu-se de novo de sangue vermelho, depois o vermelho escorreu para a corrente prin-cipal, onde se diluiu, primeiro em cor-de-rosa e, depois, em nada. Christopher torceu-se e gargarejou, pois a espada de Sharpe atingira-lhe a traqueia, tendo uma morte mais misericordiosa do que merecia. Sharpe viu o corpo do coronel estremecer e depois ficar quedo. Mergulhou a espada na água do rio para a limpar e secou-a o melhor que pôde na capa de Christopher. Depois, vasculhou rapidamente os bolsos do coronel, encontrando três moedas de ouro, um relógio partido, com uma caixa de prata, e uma pasta de couro atafulhada de papéis que deviam interessar ao capitão Hogan.
- Louco de um raio - disse Sharpe para o cadáver.
Sharpe olhou depois para cima, para a noite que se adensava, e viu uma grande sombra à beira da ravina, por cima dele. Por um momento pensou que era um francês, mas depois ouviu a voz de Harper.
- Ele está morto?
- Sim, mas nem sequer lutou. Williamson também morreu.
Sharpe subiu pela encosta da ravina até chegar próximo de Harper, o sargento estendendo o rifle para içar Sharpe pelo resto da distância que os separava. O sargento Macedo também ali estava e os três não podiam voltar ao penhasco porque os franceses se encontravam na estrada e, por isso, abrigaram-se da chuva numa cova escavada pelo gelo num dos enormes rochedos arredondados. Sharpe contou a Harper o que acontecera e, depois, quis saber se o irlandês tinha visto Kate.
- O nosso tenente Vicente ficou com ela, meu Tenente - respondeu Harper. - A última coisa que vi foi que ela estava a chorar e o nosso Tenente estava a apertá-la nos braços e a dar-lhe palmadinhas nas costas. As mulheres gostam muito de chorar, já notou, meu Tenente?
- Já notei, sim - disse Sharpe.
- Fá-las sentirem-se melhor - disse Harper. - O engraçado é que connosco não funciona.
Sharpe deu uma das moedas de ouro a Harper, deu outra a Macedo e ficou com a terceira. A escuridão adensara-se. Prometia ser uma noite longa, fria e cheia de fome, mas Sharpe não se importava.
- Recuperei o meu óculo - disse ele a Harper.
- Sempre pensei que o ia recuperar.
- E não está partido. Pelo menos, não me parece.
O óculo não chocalhara, quando ele o abanara, por isso assumia que estava intacto.
A chuva amainou. Sharpe pôs-se à escuta, mas não conseguiu ouvir mais nada a não ser os passos dos franceses a soarem nas pedras da ponte do Saltador, o assobiar do vento, o ruído do rio e da queda da chuva. Não ouvia fogo de canhão. Isso queria dizer que o combate longínquo na Ponte Nova terminara e ele não tinha dúvida nenhuma de que constituíra uma vitória. Os franceses iam-se embora. Tinham enfrentado Sír Arthur Wellesley e ele tinha-os destroçado. Sharpe sorriu ao pensar nisso, pois, embora Wellesley fosse um animal frio, intratável e altivo, era um grande general. E tinha massacrado o exército do Rei Nicolau. E Sharpe ajudara a isso. Tinha executado a sua parte.
Era, pois, o massacre de Sharpe.
Bernard Cornwell
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















