



Biblio VT




Durante o verão de 1937, em Xangai, toda tarde eu ia de bicicleta até o Bund para ver se a guerra tinha começado. Assim que o almoço terminava, esperava que mamãe e papai saíssem para o Country Club. Enquanto eles vestiam o uniforme de tênis, preparando-se tranqüilamente no quarto de dormir, espantava-me que eles se mostrassem tão despreocupados com a guerra iminente, não percebessem que ela podia estourar a qualquer instante - talvez até quando papai estivesse dando o primeiro saque. Lembro-me de que eu andava de um lado para outro, com a impaciência napoleônica de um menino de sete anos, com meus soldadinhos de chumbo, representando o exército japonês e o chinês em torno de Xangai, dispostos em ordem de batalha em cima do tapete. Às vezes tinha a impressão de que era eu, sozinho, quem mantinha viva a guerra.
Procurando não ouvir a risada coquete de mamãe para papai, eu vigiava o céu sobre a avenida Amherst. A qualquer momento um esquadrão de bombardeiros japoneses poderia surgir sobre os magazines do centro de Xangai e começar a bombardear a Escola-Catedral. Meu cérebro infantil não fazia a menor idéia do tempo que duraria uma guerra; poderiam ser alguns minutos ou até mesmo, quem sabe, toda uma tarde. Meu único medo era de que, como tantos acontecimentos emocionantes que eu vivia perdendo, a guerra acabasse antes mesmo de eu notar que tinha começado.
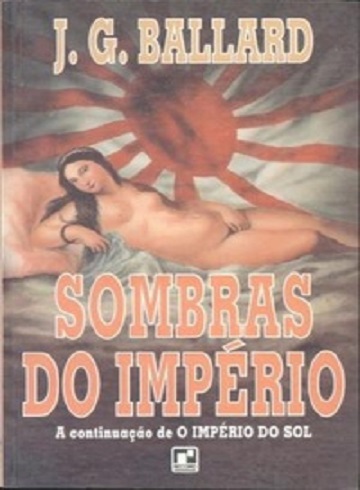
Durante o verão, todo mundo em Xangai comentava a iminente guerra entre a China e o Japão. Nas reuniões de bridge de mamãe, enquanto eu me servia de chow, oferecido em pequenas travessas, ouvia suas amigas conversarem sobre os tiros trocados, em 7 de julho, na ponte Marco Pólo, em Pequim, os tiros que haviam assinalado a invasão do norte da China pelo Japão. Um mês se passara sem que Chiang Kai-shek ordenasse um contra-ataque, e dizia-se que os assessores alemães do Generalissimo o vinham aconselhando a abandonar as províncias setentrionais e combater os japoneses mais perto de seu reduto em Nanquim, a capital da China. Astutamente, porém, Chiang resolvera desafiar os japoneses em Xangai, cidade que ficava a 320 quilômetros de distância, na foz do Yangtsé, onde os Estados Unidos e as potências européias poderiam intervir para salvá-lo.
Como eu mesmo via, sempre que descia ao Bund, imensos exércitos chineses estavam a se reunir em torno do Setor Internacional. Na sexta-feira, 13 de agosto, assim que mamãe e papai se instalaram nos bancos traseiros do Packard, tirei a bicicleta da garagem, enchi os pneus e parti para a longa excursão até o Bund. Olga, minha babá russa-branca, imaginou que eu tivesse ido visitar David Hunter, um amigo que morava no extremo ocidental da avenida Amhers Moça de muitas venetas e olhares estranhos, Olga só se interessava em experimentar as roupas de mamãe, e ficou feliz por me ver sair.
Cheguei ao Bund uma hora depois, mas o largo estava tão cheio de apressados empregados de escritórios, que não consegui chegar perto da escadaria do cais. Tocando a campainha da bicicleta, passei pelos bondes estralejantes, pelas fileiras de jinriquixás e seus condutores exaustos, pelos bandos de mendigos agressivos e batedores de carteiras. Refugiados de Chapei e Nantao afluíam para o Setor Internacional, lançando imprecações às imponentes fachadas dos bancos e casas comissárias ao longo do Bund. Milhares de soldados chineses estavam entrincheirados nos subúrbios da zona norte de Xangai, bem diante da guarnição japonesa, que se mantinha na concessão de Yangtsepu. Na escada do Hotel Catai, entreguei a bicicleta para que o porteiro a segurasse e vi o rio Huang Pu cheio de navios de guerra. Havia contratorpedeiros, chalupas e canhoneiras inglesas, e estavam ali o USS Augusta e um cruzador francês, bem como o velho cruzador japonês Idzumo, que, como meu pai me contara, havia ajudado a afundar a esquadra imperial russa em 1905.
Apesar dessa mobilização de forças, a guerra recusou-se, obstinada, a rebentar naquela tarde. Desapontado e cansado, pedalei de volta à avenida Amherst, com o casaco da escola amarrotado e sujo, ainda a tempo para o chá e meu seriado radiofônico predileto. Com os braços em torno dos joelhos arranhados, fitei meus exércitos de soldadinhos de chumbo e corrigi suas linhas de acordo com os mais recentes movimentos de tropas que eu vira ao voltar para casa. Sem atender aos chamados de Olga, tentei formular um plano que rompesse o impasse, na esperança de que meu pai, que conhecia um dos banqueiros chineses que apoiavam Chiang Kai-shek, transmitisse minha enevoada onda cerebral ao Generalissimo.
Aborrecido com todos esses problemas, ainda mais difíceis do que meu dever de francês, entrei no quarto de meus pais. Olga estava de pé diante do espelho alto de mamãe, com uma capa de peles sobre os ombros. Sentei-me à penteadeira e rearrumei as escovas de cabelos e os frascos de perfume, enquanto Olga me olhava, carrancuda, pelo espelho, como se eu fosse um visitante indesejado cuja intenção fosse ir a uma outra casa da avenida. Eu contara a mamãe que Olga mexia em suas roupas, mas ela apenas sorrira, sem nada dizer a Olga.
Compreendi mais tarde que aquela moça de dezessete anos, filha de uma família de Minsk antes abastada, era quase uma criança também. Em meus passeios de bicicleta, eu ficara chocado com a pobreza dos refugiados russos-brancos e judeus que moravam nos cortiços de Hong-kew. Uma coisa era chineses serem pobres, mas me afligia ver europeus reduzidos a tamanha penúria. Seus rostos estampavam um desespero que os chineses jamais demonstravam. Uma vez, ao passar pedalando diante da porta de uma sombria cabeça-de-porco, uma velha russa gritou comigo, dizendo que eu fosse embora e acusando meus pais de serem ladrões. Durante alguns dias eu acreditei nela.
Os refugiados se postavam, com seus remendados casacos 4e peles, na escadaria do Park Hotel, na esperança de vender suas jóias fora de moda. As moças pintavam a boca e os olhos, e eu achava que isso era uma valente tentativa de se animarem. Chamavam os oficiais americanos e ingleses que entravam no hotel, mas minha mãe nunca conseguira explicar o que estavam vendendo. Ofereciam aulas de francês e russo, disse ela por fim.
Sempre preocupado com meus deveres de casa, e informado de que muitos russos-brancos falavam excelente francês, eu havia perguntado a Olga se ela não queria me dar uma aula de francês, como as moças que ficavam diante do Park Hotel. Ela ficou sentada na cama enquanto eu folheava meu dicionário de bolso, balançando a cabeça como se eu fosse uma criatura estranha num jardim zoológico. Com medo de a ter melin-drado, por referir-me à pobreza de sua família, dei a Olga uma de minhas camisas de seda, pedindo-lhe que a entregasse ao pai inválido. Olga segurou a camisa durante pelo menos uns cinco minutos, como se fosse uma das vestes usadas nas cerimônias religiosas da catedral de Xangai, antes de devolvê-la em silêncio a meu guarda-roupa. Eu já observara que as babás russas-brancas possuíam um profundo mistério feminino, inteiramente ausente nas mães de meus amigos.
- O que foi, James?-Olga pendurou a capa de peles no cabide e passou o peignoir de mamãe sobre os ombros. - Terminou seu livro? Você está muito agitado hoje.
- Estou pensando na guerra, Olga.
- Você pensa na guerra todos os dias, James. Você e o general Chiang não pensam em outra coisa. Tenho certeza de que ele gostaria de conhecer você.
- Bem, eu poderia me encontrar com ele... - Na verdade, às vezes eu achava que o Generalissimo não dedicava à guerra a atenção merecida.
- Olga, você sabe quando a guerra vai começar?
- Mas já não começou? Todo mundo está dizendo que sim.
- Não a guerra de verdade. A guerra em Xangai.
- Essa é que é a guerra de verdade? Nada em Xangai é de verdade, James. Por que não pergunta a seu pai?
- Ele não sabe. Perguntei a ele depois do café da manhã.
- Que pena! Há muitas coisas que ele não sabe?
Ainda usando o peignoir, Olga sentou-se na cama de papai, alisando com a mão a colcha de cetim e desfazendo as dobras. Acariciava a marca dos ombros de papai, e por um instante tive a impressão de que iria meter-se entre os lençóis.
- Ele sabe muitas coisas, mas...
- Uma coisa eu posso lhe dizer, James. Hoje é sexta-feira, 13. Será um dia bom para começar uma guerra?
- Ih, Olga...! - Aquela notícia me animara. Corri para a janela... pois as superstições, como eu havia notado, costumavam se tornar realidade. - Se acontecer alguma coisa eu lhe conto.
Olga ficou atrás de mim, com a mão em minha orelha. Embora adorasse o aconchego das roupas de mamãe e o cheiro forte da jaqueta de montaria de papai, raramente me tocava. Olga fitou o horizonte distante, no Bund. Das caldeiras a carvão dos navios de guerra mais antigos subiam rolos de fumaça. As colunas negras competiam por espaço enquanto os navios mudavam de posição, virando um de frente para o outro com as sirenes a tocar. A luz vespertina dava ao rosto de Olga a severidade das estátuas mortuárias que eu vira no cemitério de Xangai. Ela levantou o peignoir, olhando através de seu tecido fino, como se contemplasse em sonho a desaparecida Rússia imperial.
- É, James, acho que vão começar a guerra para você hoje.
- Ah, que bom, Olga.
Mas antes que a guerra pudesse começar papai e mamãe voltaram inesperadamente do Country Club. Com eles vinham dois oficiais britânicos da Força de Voluntários de Xangai, com seus uniformes justos da Grande Guerra. Tentei ficar junto deles no estúdio, mas mamãe me levou para o jardim e, tensa, mostrou-me os papa-figos que bebiam água na beirada da piscina.
Lamentei vê-la preocupada, pois sabia que mamãe, ao contrário de Olga, era uma daquelas pessoas que não suportavam qualquer espécie de preocupação. Procurando não incomodá-la, passei o resto da tarde em meu quarto de brinquedos. Escutando as sirenes das esquadras, reorganizei meus soldadinhos de chumbo. No dia seguinte, no Sábado Sangrento, como veio a ser chamado, meu exército em miniatura finalmente ganhou vida.
Lembro-me da monção chuvosa que se abateu sobre Xangai durante aquela última noite de paz, abafando os tiros dos franco-atiradores chineses e o ribombo distante dos canhões navais japoneses, que martelavam as baterias de praia chinesas em Woosung. Quando acordei, a noite estava quente e pegajosa, mas a tempestade passara e os anúncios de néon da cidade, molhados, brilhavam mais do que nunca.
Na hora do café, mamãe e papai já se achavam vestidos com suas roupas de golfe, ainda que, ao saírem no Packard, alguns minutos depois, meu pai fosse ao volante, com o chofer a seu lado, e não estivessem levando os tacos de golfe.
- Jamie, você vai ficar em casa hoje - anunciou papai, olhando bem dentro de meus olhos, como fazia quando tinha suas próprias razões insondáveis. - Você vai poder acabar de ler seu Robinson Crusoe.
- Você vai conhecer Sexta-Feira e os canibais.-Mamãe sorriu ao pensar na alegria que me estava reservada, mas seus olhos se mostravam tão inexpressivos quanto no dia em que nosso spaniel foi atropelado pelo médico alemão na rua Columbia. Fiquei a imaginar que talvez Olga tivesse morrido de noite, mas ela estava espiando da porta, apertando as golas do quimono contra o pescoço.
- Já conheci os canibais. - Por mais emocionante que fosse, o naufrágio de Crusoé perdia a graça em comparação com o desastre naval verdadeiro que estava para acontecer no rio Huang Pu. - Podemos ir ao Espetáculo? David Hunter vai na semana que vem e...
O Espetáculo Militar encenado pelos soldados da guarnição britânica era cheio de retumbantes tiros de canhão, clarões de granadas e cargas de baioneta, e recriava os mais violentos embates da Grande Guerra, as batalhas de Mons e Ypres e os desembarques de Gallipoli. De certo modo, o faz-de-conta do Espetáculo talvez viesse a ser a coisa mais parecida com uma guerra de verdade que eu viria a conhecer.
- Jamie, vamos ver... talvez eles tenham de cancelar o Espetáculo. Os soldados estão muito ocupados.
- Eu sei. Podemos então ir ver os Demônios Motorizados? - Tratava-se de uma trupe de automobilistas americanos que lançavam seus amassados Fords e Chevrolets contra barricadas de madeira em chamas. Aqueles emocionantes acidentes ensaiados transformavam em ninharia os prosaicos acidentes das ruas de Xangai. - O senhor prometeu...
- Os Demônios Motorizados não estão mais aqui. Voltaram para Manila.
- Estão se preparando para a guerra. - Mentalmente, eu visualizava aqueles lacônicos americanos, com seus uniformes e óculos de aviador, a atravessar com estrépito as muralhas flamejantes enquanto respondiam a uma salva de tiros do Idzumo. - Posso ir ao clube de golfe?
- Não! Fique aqui com Olga! Não vou repetir... - A voz de papai tinha um tom de irritação que eu vinha notando desde as agitações trabalhistas em seu cotonifício em Putung, na margem esquerda do rio. Por que Olga o observava com tanta atenção quando ele estava zangado? Seus olhos impassíveis assumiam uma vivacidade rara e quase faminta, a expressão que eu sentia em meu rosto quando estava prestes a atacar um sundae. Um dos dirigentes sindicais comunistas que ameaçaram matar papai olhara para ele da mesma maneira, enquanto esperávamos dentro do Packard, do lado de fora de seu escritório na rua Szechuan. Fiquei com medo de que Olga quisesse matar papai e comê-lo.
- É preciso mesmo? Olga passa o tempo todo ouvindo música de dança francesa.
- Bem, ouça música com ela-disse mamãe.-Olga pode ensinar você a dançar.
Essa era uma possibilidade que me apavorava, uma tortura ainda maior que a perspectiva de paz interminável. Quando Olga me tocava, era de um modo distante, mas estranhamente íntimo. Quando eu estava deitado, de noite, ela às vezes costumava despir-se em meu banheiro, com a porta entreaberta. Mais tarde imaginei que essa era sua maneira de provar a si mesma que eu não existia mais. Assim que meus pais saíssem para o clube de golfe, minha única intenção era fugir dela.
- David disse que Olga...
- Está certo! - Irritado com a campainha do telefone, que os criados não atendiam porque o aparelho os deixava nervosos demais, meu pai cedeu. - Pode ir ver David Hunter. Mas não vá a nenhum outro lugar.
Por que estaria ele assustado com Xangai? Apesar de seu temperamento explosivo, papai cedia com facilidade, como se os acontecimentos do mundo fossem tão incertos que até minha insistência infantil tivesse peso. Estava perturbado demais para brincar com meus soldadinhos de chumbo, e muitas vezes olhava para mim da mesma maneira firme, mas desalentada, como o diretor da Escola-Catedral fitava os alunos reunidos durante as orações da manhã. Ao sair em direção ao carro, ele bateu com força os sapatos de golfe ferrados, deixando marcas fundas no cascalho, como pegadas que afirmassem um direito à praia de Crusoé.
Antes mesmo que o Packard chegasse à rua, Olga já estava reclinada na varanda, com a Vogue e a Saturday Evening Post de minha mãe. De vez em quando ela me chamava, a voz tão distante quanto as sirenes nas bóias fluviais de Woosung. Olga devia estar a par de minhas escapadas de bicicleta por Xangai. Sabia muito bem que eu poderia ser seqüestrado ou ter as roupas roubadas num dos becos da rua do Poço Borbulhante. Talvez os horrores da guerra civil russa e a longa viagem com os pais, através da Turquia e do Iraque, até aquela cidade perdida na foz do Yangtsé, a houvessem desorientado tanto que já não lhe importava que a criança entregue a seus cuidados fosse morta.
- Quem foi que seu pai deixou você ir visitar, James?
- David Hunter. É meu melhor amigo. Estou indo agora, Olga.
- Você tem muitos melhores amigos. Avise-me se a guerra começar, James.
Ela acenou, e saí. Na verdade, a última pessoa em Xangai que eu queria ver era David. Nas férias de verão, meus colegas de escola e eu participávamos de homéricas brincadeiras de esconder que duravam semanas e se estendiam por toda Xangai. Enquanto eu seguia de carro para o Country Club com mamãe ou tomava chá gelado na Casa dos Chocolates, não deixava por um instante de ficar à espreita de David, que poderia escapulir de sua amah (criada tipicamente chinesa) e avançar pela multidão para me dar um tapinha nos ombros. Essas brincadeiras acrescentavam mais uma camada de estranheza e surpresa a uma cidade que já era demasiado estranha.
Tirei a bicicleta da garagem, abotoei o casaco e saí pelo caminho. Movimentando as pernas como as lâminas de um batedor de ovos, guinei para a avenida Amherst e alcancei uma coluna de camponeses, que avançavam pelos subúrbios da área oeste da cidade. Refugiados vindos do interior agora ocupado pelos exércitos da China e do Japão, eles passavam diante das mansões da avenida, carregando às costas seus poucos pertences. Esfalfavam-se na direção das torres distantes do centro de Xangai, sem nada ver senão o asfalto quente diante deles, não atentando aos pára-choques cromados e às buzinas dos Buicks e Chryslers cujos motoristas chineses tentavam forçá-los a sair do meio da rua.
De pé sobre os pedais, tirei um fino num jinriquixá carregado de fardos de esteiras, sobre os quais se acocoravam duas velhas, que se agarravam às paredes e ao teto de uma choupana desmontada. Pude sentir o cheiro de seus corpos, aleijados por toda uma vida de pesado trabalho braçal, e o mesmo suor azedo e o hálito de fome de todos os camponeses miseráveis. Mas a chuva da noite ainda lhes empapava as túnicas negras de algodão, que luziam ao sol como as mais delicadas sedas sobre os balcões de fazendas no magazine Sun Sun, como se a magia de Xangai já houvesse começado a transformar aqueles indigentes.
O que lhes aconteceria? Mamãe mostrava-se cautelosamente vaga a respeito dos refugiados, porém Olga me disse, com seu jeito simples e franco, que a maioria deles logo morria de fome ou tifo nos becos de Chapei. Toda manhã, indo para a escola, eu passava pelos caminhões da Prefeitura Municipal de Xangai, que rodavam pela cidade juntando as centenas de corpos de chineses que tinham morrido de noite. Eu preferia pensar que só os velhos morriam, embora tivesse visto um menino, de minha idade, morto e recostado na grade do edifício em que ficava o escritório de meu pai. Segurava nas mãos brancas uma lata de cigarros vazia, provavelmente o último presente de sua família antes de o abandonarem. Eu esperava que os outros se tornassem barmen e garçons ou moças Número 3 no Parque de Diversões Grande Mundo, e mamãe dizia que também tinha essa esperança.
Coloquei de lado essas idéias, pensei no dia que estava pela frente, e alcancei a avenida Joffre e os longos bulevares arborizados da Concessão Francesa, que me levariam ao Bund. Nervosos soldados franceses vigiavam a guarita, protegida por sacos de areia, junto ao terminal de bondes. Fitavam com ar cansado o céu vazio e cuspinhavam aos pés dos chineses que passavam, odiando aquela cidade horrenda, do outro lado do mundo, para onde tinham sido exilados. Mas eu sentia um frêmito de emoção ao entrar em Xangai. Para meus olhos infantis, que nunca tinham visto outra cidade, Xangai era um sonho, onde tudo quanto eu podia imaginar já havia sido levado ao extremo. Os cartazes multicores e os luminosos de néon das boates, os jovens marginais chineses e os mendigos violentos, que me olhavam com atenção enquanto eu passava por eles, faziam parte de um reino feérico mais excitante do que as revistas em quadrinhos e os seriados americanos de que eu tanto gostava.
Xangai absorvia tudo, até a guerra que se aproximava, por mais assustadores que fossem os rolos de fumaça que subiam dos navios de guerra no rio Huang Pu. Papai dizia que Xangai era a cidade mais avançada do mundo, e eu sabia que um dia todas as cidades do planeta estariam cheias de estações de rádio, demônios motorizados e cassinos. Do lado de fora do Canídromo, multidões de chineses e europeus abriam caminho para entrar na arena dos galgos, indiferentes aos exércitos do Kuomintang, que se juntavam em torno da cidade, preparando-se para atacar a guamição japonesa. Jogadores acotovelavam-se nos guichês de apostas do estádio dejai-alai, enquanto a platéia matinal se reunia diante da entrada do Grande Teatro, na rua Nanquim, ansiosa para assistir ao mais recente musical de Hollywood, Cavadoras de Ouro de 1937.
Entretanto, entre todos os locais assombrosos, o que mais me extasiava era o Parque de Diversões Grande Mundo, na avenida Eduardo VII, que encerrava o coração magnético de Xangai em seus seis andares. Sem que meus pais soubessem, o chofer muitas vezes me levava às suas cavernas sujas e febricitantes. Depois de me apanhar na escola, Yang em geral parava o carro do lado de fora do Parque de Diversões e ia cumprir um ou outro dos misteriosos mandados que ocupavam uma parte substancial de seu dia.
Imenso depósito de luz e ruídos, o Parque de Diversões era cheio de mágicos e fogos de artifício, máquinas caça-níqueis e cantoras. Uma névoa de banha de fritar luzia no ar, formando uma película gordurosa em meu rosto, misturando-se com o cheiro de incenso. Aturdido pela algazarra, eu seguia Yang, enquanto ele se embarafustava entre os acrobatas e os atores chineses que batiam gongos. Curandeiros lanceteavam os pescoços de enormes gansos brancos, vendendo xícaras do sangue fumegante aos passantes, enquanto as aves ferozes batiam os pés e grugulejavam para mim quando eu chegava perto demais. Enquanto Yang sussurrava nos ouvidos de banqueiros de mah-jong e de casamenteiros, eu espreitava, entre suas pernas, as latrinas expostas dos lavatórios e os ídolos medonhos que carranqueavam sobre as portas dos templos, os misteriosos espetáculos a que se assistia por um buraquinho e as cabines de massagem com suas elegantes moças chinesas, que, infinitamente mais aterradoras do que Olga, usavam mantos bordados, de gola alta, abertos de modo a lhes exibirem as coxas.
Naquele sábado, porém, o Grande Mundo estava fechado. Os estrados de baile, as bancas de peixe seco e as cabines onde se escreviam cartas de amor tinham sido desmontados, e as autoridades municipais haviam transformado o velho edifício num centro de refugiados. Centenas de chineses desvairados procuravam entrar à força no prédio decrépito, contidos por um cordão de policiais sikhs com turbantes caqui manchados de suor. Como uma turma de batedores de tapetes, os sikhs fustigavam os camponeses desdentados com pesados bastões de bambu. Um corpulento sargento da polícia inglesa brandia o revólver para uma velha simiesca, de pés atados, que tentava passar por ele, batendo-lhe no peito com os punhos calosos.
Mantive-me na calçada do outro lado da rua, escutando as sirenes que soavam no rio, um intenso gemido de feras cegas a se desafiarem umas às outras. Pela primeira vez, pressenti que uma espécie de guerra já chegara a Xangai. Empurrado pelos escriturários chineses, avancei em minha bicicleta ao longo da sarjeta, passando com dificuldade por um caminhão blindado da polícia de Xangai, com sua metralhadora Thompson de cabos duplos montada sobre a boléia.
Ofegante, encostei-me no portal de uma agência funerária. O idoso proprietário estava sentado entre caixões nos fundos da loja, com os dedos brancos manuseando as contas do ábaco. Os cliques ecoavam entre os ataúdes vazios e me recordaram a superstição que Yang havia vividamente descrito, estalando os dedos diante de meu nariz.
- Quando um caixão estala, o papa-defuntos chinês sabe que vai vendê-lo...
Prestei atenção ao ábaco, tentando verificar se os caixões estremeciam ao estalar. Em breve, muitos caixões estalariam em Xangai. Os dedos do ancião mexeram-se mais depressa quando ele me fitou com seus olhos vazios e sonhadores. Estaria ele calculando todos aqueles que iriam morrer em Xangai, tentando chegar a meu próprio número, oculto em algum lugar entre os caixões e o barulho das contas?
Atrás de mim soou, forte, uma buzina de automóvel. Um Lincoln Zephyr branco forçava caminho no tráfego, comprimido entre cules de jinriquixás e os refugiados que forçavam entrada no Parque de Diversões. No banco de trás, ajoelhado ao lado de sua babá australiana, vinha David Hunter, com os cabelos louros a lhe tapar o rosto, enquanto olhava a calçada de olhos semicerrados. Esquecido dos caixões e do ábaco estalante, empurrei a bicicleta pela sarjeta, sabendo que David me avistaria assim que o trânsito melhorasse um pouco.
De um dos edifícios de escritórios veio o som estridente de um alerta de ataque aéreo, ao qual se superpunha um ronco cavo e contínuo, como se o céu estivesse a desabar. Aos gritos, um cule correu para mim, com fardos de lenha pendurados de uma vara de bambu atravessada em seus ombros, onde as veias saltavam como minhocas inchadas. Sem parar, deu um chute na bicicleta. Abaixei-me para esfregar os joelhos feridos e tentei agarrar o guidom, mas o cule passou por cima de mim, atirando-me ao chão. Sem fôlego, caí entre bilhetes de loteria velhos, jornais rasgados e sandálias de palha, enquanto o Lincoln branco passava por mim. Alisando os cabelos louros atrás da janela traseira, David franziu a testa enquanto me olhava com seu jeito agitado, incapaz de me reconhecer mas sem entender por que um menino inglês, com um casaco da Escola-Catedral, havia escolhido logo aquele momento para rolar numa sarjeta imunda.
O alarme antiaéreo começou a uivar, lançando um lamento ao céu. Muitos chineses - empregados de escritórios, secretárias e garçons de hotéis - desciam correndo a rua Nanquim, vindos do Bund. Atrás deles, uma imensa nuvem branca de vapor subia do rio Huang Pu, e clarões de disparos de canhões refletiam-se em sua superfície. Três bombardeiros bimotores a circundavam, inclinando-se ao atravessar seus rolos cinéreos.
Um esquadrão de aviões chineses bombardeava o Idzumo e os coto-nifícios japoneses em Yangtsepu, a pouco mais de um quilômetro e meio do Bund, do outro lado da ponte do Jardim. O estrondo de canhões de grosso calibre sacudia as janelas dos edifícios de escritórios na rua Thibet. Um bonde chocalhante passou por mim na direção do Bund, e seus passageiros se apressavam a saltar. Bem acima deles, no terraço do edifício Socony-Vacuum, um grupo de despreocupados europeus, com uniformes brancos de tênis e binóculos, apreciavam os pormenores do espetáculo, apontando-os uns para os outros.
Teria a guerra começado mesmo? Eu estava à espera de alguma coisa organizada e disciplinada como o Espetáculo Militar. Os aviões arrastavam-se pelo ar, como se os pilotos estivessem enfastiados com seus alvos e rodassem sobre o Idzumo simplesmente para matar o tempo antes de regressar à base. Os navios de guerra franceses e ingleses continuavam atracados perto da praia de Putung, com as luzes de sinalização piscando mansamente em seus passadiços - um comentário vagamente curioso a respeito da exibição de bombardeio que acontecia mais abaixo.
Montando na bicicleta, endireitei o guidom e sacudi a poeira de meu casaco, pois os intrometidos inspetores da escola gostavam de vaguear pela cidade em suas horas de folga, para depois delatar os alunos que encontrassem vestidos de forma desleixada. Parti atrás do bonde vazio, seguindo entre os trilhos polidos. Quando o veículo aproximou-se do Bund, o condutor desceu, praguejando para o motorneiro e sacudindo a sacola de couro onde guardava o dinheiro. A sineta de alerta do bonde retinia na rua vazia, vigiada por grupos de funcionários chineses, que se comprimiam nas portas dos edifícios de escritórios.
Um esguicho d'água subiu das ondas encapeladas ao lado da proa do Idzumo, deteve-se no ar por um instante e a seguir precipitou-se para o alto numa cascata violenta. Braços de espuma dispararam no ar e subiram bem acima das antenas de rádio e dos mastros do velho cruzador. Um segundo esquadrão de bombardeiros chineses avançava em formação sobre o Huang Pu, a meio caminho entre o Bund e a praia de Putung, onde um véu de fumaça gordurosa escondia o cotonifício de meu pai. Um dos aviões retardou-se em relação aos outros, pois o piloto não conseguia manter seu lugar na formação. Inclinava as asas de um lado para outro, como os pilotos que faziam demonstrações no aeródromo de Hungjao.
- Jamie, deixe a bicicleta onde está! Venha conosco!
Os pára-lamas brancos do Lincoln Zephyr achavam-se bem atrás de mim. A babá australiana de David gritava para mim, com os braços estendidos sobre os ombros do nervoso chofer chinês. Firmando o chapéu de palha com uma das mãos, ela fazia sinais para que eu entrasse no carro. A babá Arnold tinha sido sempre meiga e serena, muito mais simpática comigo do que Olga, e por isso surpreendeu-me seus maus modos. David me reconhecera e havia um brilho de triunfo em seus olhos. Afastou os cabelos louros da testa, feliz por estar prestes a fazer a primeira captura de nossa gigantesca brincadeira de pique-esconde.
O Idzumo soltava fumaça pelos lados. De sua proa subiam espirais de vapor oleoso. Através das nuvens fuliginosas eu avistava o tremor do fogo antiaéreo, cujo barulho se perdia no zumbido monótono dos bombardeiros chineses.
- Jamie, seu idiota...!
Afastei-me deles, a pedalar, na direção da muralha de barulho e fumaça. Vidraças caíam das janelas do edifício de meu pai, na rua Szechuan. Funcionárias disparavam pelas portas, com as blusas brancas cobertas de finas agulhas. A roda dianteira da bicicleta bateu com força num pedaço de cantaria, que se soltara de uma cornija. Enquanto eu endireitava os pedais, um bombardeiro em vôo rasante desviou-se do fogo antiaéreo japonês. Passou sobre o Bund, deixando ver os porta-bombas abertos, e lançou duas bombas na direção dos sampanas vazios, atracados junto ao cais.
Ansioso para ver os esguichos d'água, subi na bicicleta, porém duas mãos fortes me agarraram pelas axilas. Um sargento da polícia inglesa, fardado, me fez rodopiar e perder o equilíbrio. Afastou a bicicleta com um pontapé e se agachou junto da escada do edifício Socony. Ao me apertar contra si, a coronha metálica de seu revólver cortou-me o joelho.
Uma chuva de destroços voou entre os hotéis e lojas de departamentos da rua Nanquim e encheu de cinza branca a rua. Uma onda de ar abrasante golpeou-me o peito e me atirou ao chão ao lado do sargento. Escriturários chineses, de braços erguidos e o sangue a lhes escorrer da testa, correram em nossa direção, através de nuvens de pó. Uma das bombas caíra no Palace Hotel, e a outra na avenida Eduardo VII, ao lado do Parque de Diversões Grande Mundo. Os prédios da rua Szechuan sacudiam em tomo de nós, arremessando na rua uma cachoeira de vidros e azulejos quebrados.
Junto ao meio-fio, uma matrona eurasiana desceu de seu carro, com o ouvido a sangrar. Tocou-o discretamente com um lenço de seda, enquanto o sargento da polícia me empurrava na direção dela.
- Fique com ele aqui! - Sacudiu meus ombros, como se eu fosse uma boneca adormecida e ele quisesse me acordar. - Rapaz, fique aqui com ela!
Assim que ele correu na direção da rua Nanquim, a eurasiana soltou minha mão e fez sinal para que eu fosse embora, desorientada demais para se incomodar comigo. O sangue corria por minha perna, manchando as meias brancas. Olhando para o filete vermelho, notei que havia perdido um dos sapatos. Minha cabeça parecia vazia, e toquei-a para ter certeza de que ainda estava no lugar. A explosão sugara todo o ar da rua, e era difícil respirar. Fazendo para mim gestos distraídos, a eurasiana pôs-se a caminhar pelos destroços, limpando a poeira que cobria sua bolsa de couro. O sangue corria de seu ouvido, e ela fitava os vidros quebrados, tentando reconhecer as janelas de seu próprio apartamento.
Ao longe, sirenes da polícia tinham começado a uivar, e pela rua passou uma ambulância da Força de Voluntários de Xangai, com os pneus atirando cacos de vidro para os lados. Percebi que estava surdo, porém tudo a meu redor também estava surdo, como se o mundo não fosse mais capaz de escutar a si próprio. A duzentos metros do Parque de Diversões Grande Mundo, vi que a maior parte do edifício desaparecera. Nuvens de fumaça subiam de seus andares expostos, e um cabo elétrico, formando um arco, saltava e emitia faíscas como um gigantesco busca-pé.
Centenas de chineses jaziam mortos na rua, entre jinriquixás esmagados e carros incendiados. Tinham os corpos cobertos de giz branco, através do qual se haviam formado manchas mais escuras, como se eles tentassem se camuflar. Caminhei entre eles, tropeçando numa idosa amah deitada de costas, o rosto rabugento coberto de pó-de-arroz, censurando-me com sua última careta. Um escriturário sem braços estava sentado junto à roda traseira de um ônibus queimado. Por toda parte, no Parque de Diversões, havia mãos e pés entre os destroços - fragmentos de varetas de incenso e cartas de baralho, discos de gramofone e máscaras de dragão, parte da cabeça de uma baleia empalhada, tudo meio branco de poeira. Uma peça de seda desenrolada atravessava a rua, como uma bandagem branca a serpentear entre os montes de escombros e as mãos sem corpos.
Esperei que alguém me chamasse, mas no ar só havia silêncio e uma espécie de vibração. Eu não conseguia ouvir o ruído do vidro a se quebrar sob meus pés. Caminhei de volta até o Lincoln Zephyr dos Hunters. O chofer achava-se de pé, junto da porta aberta do carro, limpando a poeira que cobria o pára-brisa. David estava sozinho no banco traseiro, apertando a boca com as mãos. Não me deu atenção e fixou o olhar no estofamento, como se nunca mais quisesse ver-me.
Pelas janelas quebradas, olhei para a babá Arnold, deitada no banco dianteiro. Os cabelos lhe entravam pela boca, empurrados pela explosão. Tinha as mãos abertas, com as palmas brancas expostas, mostrando a todos os passantes que as lavara com cuidado antes de morrer.
Mais tarde, ao visitar-me no Hospital Geral de Xangai, David perguntou-me sobre o sangue em minha perna. Curiosamente, aquele fora o único sinal de sangue que ele tinha visto no Sábado Sangrento.
- Fui ferido pela explosão da bomba - respondi.
De certa forma eu começara a fanfarronear, porém com mais verdade do que me dava conta. A bomba de alto poder explosivo que caíra ao lado do Parque de Diversões Grande Mundo causara 1.012 mortes, na grande maioria de refugiados chineses. Como todos repetiam sem parar, orgulhosos pelo fato de Xangai mais uma vez ter-se superado, aquele era o maior número de pessoas mortas por uma só bomba em toda a história da guerra aérea. Minha banal contusão, causada pelo revólver do sargento, colocava-me entre os 1.007 feridos. Conquanto não fosse o mais jovem deles, gostava de pensar que tinha sido o 1.007fi, número que gravei a tinta no braço.
Seguiram-se meses de combates ferozes em torno do Setor Internacional, durante os quais dezenas de milhares de soldados e civis vieram a morrer, antes que os japoneses conseguissem expulsar os chineses de Xangai. Mas a bomba da avenida Eduardo Vü, que um piloto chinês lançara por engano, passou a ocupar um lugar especial na mitologia da guerra, um exemplo cabal de como a morte em massa podia agora cair do céu.
Na época, enquanto eu repousava no leito do Hospital Geral, pensava não na bomba que caíra ao lado do Parque de Diversões, mas em meu exército de brilhantes soldadinhos no quarto de brinquedos. Ainda enquanto padioleiros da Força de Voluntários de Xangai me carregavam para a ambulância pelas ruas poeirentas, eu pensava que tinha de rearrumar suas linhas de batalha. Eu tinha visto a guerra real que esperara com tanta impaciência e me sentia vagamente aborrecido por não haver modelos de chineses mortos em minhas caixas de soldados. De vez em quando meus ouvidos se limpavam por um instante, e os sons espectrais da artilharia japonesa, que vibravam nas janelas do hospital, pareciam estar a me chamar de um outro mundo.
Alguns dias depois, entretanto, as lembranças do bombardeio começaram a se dissipar. Eu tentava recordar a poeira e os destroços na rua Szechuan, mas as imagens confusas em minha cabeça tinham começado a se misturar com os noticiários cinematográficos que eu vira sobre a guerra civil espanhola e as manobras filmadas dos exércitos francês e britânico. O combate nos subúrbios da zona oeste de Xangai escurecia a janela com cortinas de fumaça que os ventos do outono agitavam, revelando os cortiços de Nantao em chamas. As enfermeiras e os médicos que examinavam meus ouvidos com diapasões, Olga e meus colegas de escola, mamãe e papai em suas visitas vespertinas - todos se pareciam com os atores dos velhos filmes mudos que o pai de David Hunter projetava para nós na parede de sua sala de jantar. A bomba que destruíra o Parque de Diversões e matara mais de mil pessoas tinha se tornado parte daqueles filmes.
Três meses se passaram antes que eu pudesse voltar para a avenida Amherst. Granadas das baterias chinesas, na estação de Siccawei, e japonesas, em Hungjao, cruzavam-se sobre o telhado de nossa casa, e meus pais tinham-se mudado para um apartamento na Concessão Francesa. A batalha de Xangai prosseguia em torno do perímetro do Setor Internacional, sacudindo as portas de nosso apartamento e fazendo o elevador enguiçar com freqüência. Uma vez Olga e eu ficamos presos uma hora na gaiola de metal. Ela, em geral tão silenciosa, passou todo esse tempo despejando sobre mim uma catadupa de palavras, embora soubesse perfeitamente que eu não escutava uma só delas. Várias vezes imaginei que ela estivesse me acusando de haver dado início à guerra, ainda que aos olhos de Olga esse teria sido o menor de meus crimes.
Em novembro os exércitos chineses começaram a se retirar de Xangai, recuando pelo Yangtsé até Nanquim. Deixaram atrás de si os subúrbios devastados, que os japoneses ocuparam, cercando o Setor Internacional com seus tanques e ninhos de metralhadoras. Pudemos então voltar em segurança para a avenida Amherst. Enquanto meus pais conversavam com os criados, subi, correndo, para meu quarto de brinquedos, ansioso por rever meus soldadinhos.
A batalha de Xangai em miniatura tinha sido desfeita a vassouradas. Soldadinhos quebrados se espalhavam entre meu trenzinho de corda e os modelos de automóveis. Alguém, talvez Cule ou o Moço Número 2, usara meu Robinson Crusoé como cinzeiro, apagando tocos de cigarros em sua capa, enquanto olhava nervosamente pelas janelas. Pensei em reclamar com papai, mas sabia que os criados tinham estado tão assustados quanto eu.
Juntei os soldadinhos e mais tarde tentei brincar com eles, mas as brincadeiras pareciam mais sérias do que antes do Sábado Sangrento. Quando David e eu dispusemos nossos exércitos rivais em ordem de batalha, afligiu-me a idéia de que estivéssemos, em segredo, tentando matar um ao outro. Pensando nas mãos e nos pés amputados que eu tinha visto diante do Parque de Diversões, guardei os soldados na caixa.
No Natal, entretanto, chegaram novos conjuntos de soldadinhos para os substituir, Montanheses de Seaforth em kills de batalha caqui e Guardas de Coldstream, com suas barretinas de pele. Para minha surpresa, a vida no Setor Internacional não fora afetada pelos meses de luta em torno da cidade, como se a guerra feroz não passasse de uma diversão de importância secundária e particularmente brutal, como os estrangulamentos públicos na Cidade Velha. Os luminosos de néon brilhavam mais do que nunca sobre as quatrocentas boates de Xangai. Papai jogava críquete no Country Club, mamãe organizava seus jantares e torneios de bridge. Participei como pajem de um suntuoso casamento no Clube Francês. O Bund estava apinhado de navios mercantes e sampanas carregadas com quilômetros de peças de algodão, de estamparia brilhante, que as fábricas de papai produziam para as chinesas elegantes que flanavam no Setor. As grandes lojas importadoras e exportadoras da rua Szechuan trabalhavam ainda mais que antes. As estações de rádio transmitiam os seriados americanos de aventuras, os bares e salões de baile viviam cheios de moças Número 2 e Número 3, e a guarnição inglesa encenou seu Espetáculo Militar. Até mesmo os Demônios Motorizados voltaram de Manila para bater com seus carros. Enquanto a guerra distante entre o Japão e Chiang Kai-shek prosseguia no interior da China, as roletas giravam nos cassinos, tecendo seus sonhos da antiga Xangai.
Como que para se lembrarem que a guerra existia, numa tarde de domingo meus pais e vários amigos quiseram ver os campos de batalha do interior, a oeste de Xangai. Tínhamos ido a uma recepção oferecida pelo cônsul-geral britânico. As mulheres usavam seus melhores vestidos de seda, os homens seus mais elegantes ternos cinzentos e chapéus-pana-má. Quando nossos carros pararam na guarita da rua Keswick, esperei que os esfarrapados soldados japoneses nos mandassem voltar, mas deixaram-nos passar com um aceno e sem nenhum comentário, como se mal merecêssemos um olhar.
Depois de percorrermos cinco quilômetros, paramos numa estrada deserta. Lembro-me do campo de batalha sob o céu silencioso e da aldeia incendiada perto de um canal em ruínas. Os choferes abriram as portas, e descemos para uma estrada recoberta de fragmentos dourados. A nossos pés se espalhavam centenas de cartuchos de fuzil vazios. Trincheiras abandonadas se estendiam entre os montículos fúnebres, dos quais se projetavam caixões abertos, como gavetas de um guarda-roupa saqueado. Por toda parte havia restos de redes rasgadas, caixas de munição vazias, botas e capacetes, baionetas meio enferrujadas e foguetes de sinalização. Perto de abrigos de fuzileiros, agora inundados, havia uma fortificação de terra, pulverizada pela artilharia japonesa. Ao lado do embasamento de um canhão, jazia a carcaça de um cavalo, com as patas erguidas para o céu.
Contemplamos juntos essa cena, as senhoras afastando as moscas com os leques, os homens fazendo comentários em voz baixa, como um grupo de investidores que visitassem o set de um filme de guerra inacabado. Levados por papai e pelo Sr. Hunter, caminhamos na direção do canal, onde demos com soldados chineses boiando na água rasa. Por toda parte, nas trincheiras inundadas, viam-se soldados mortos, cobertos de terra até a cintura, como que adormecidos num dormitório destruído.
A meu lado, David reprimia risadinhas. Estava impaciente por voltar para casa, e eu via seus olhos aflitos por trás dos cabelos. Virou as costas para a mãe, porém o campo de batalha e os mortos o cercavam por todos os lados. Arrastando de propósito os sapatos engraxados, ele se pôs a chutar as caixas de balas contra os soldados adormecidos.
Juntei as mãos em concha sobre os ouvidos, tentando captar o som que os despertaria.
Durante todo o dia tinham corrido boatos, no campo de Lunghua, de que em breve haveria uma tentativa de fuga. Tiritando de frio na escada do alojamento das crianças, esperei que o sargento Nagata completasse a terceira chamada de emergência do dia. Em geral, ao primeiro indício de uma tentativa de fuga, os sentinelas japoneses fechavam os portões com uma série de pesadas trancas - um gesto simbólico, como observou o pai de David Hunter, já que se alguém tencionasse fugir de Lunghua dificilmente pensaria em sair pelos portões de entrada. Muito mais fácil seria passar pelo alambrado em torno do campo, como eu e as outras crianças maiores fazíamos todos os dias, à procura de bolas de tênis perdidas ou preparando inúteis armadilhas de pássaros para os marinheiros americanos.
Simbólico ou não, o gesto tinha uma finalidade prática, como tantos outros rituais japoneses. Fechar os portões representava um sinal para qualquer colaborador dos chineses, na região, de que estava em vigor um alerta de segurança; e avisava aos poucos informantes dentro do campo - sempre os últimos a saber o que acontecia que mantivessem os olhos abertos.
Entretanto, dessa vez, os portões pendiam frouxamente de seus mourões meio podres, e os sentinelas batiam as botas rotas na terra fria, ainda mais enfastiados que de costume. Quase todos os japoneses, como o praça Kimura, eram filhos de camponeses, tão pobres que consideravam
Lunghua, com seus dois mil prisioneiros e seus estoques ilimitados de bastões de críquete e raquetes de tênis, um paraíso de riquezas. Os dormitórios de cimento, não aquecidos, pelo menos recebiam um fornecimento intermitente de energia elétrica, luxo inimaginável para o camponês nipônico.
Assoviei entre os dedos, procurando chamar a atenção de Kimura, mas ele não me deu ouvidos e fitou os mendigos chineses, que, do lado de fora dos portões, esperavam pacientemente as migalhas que nunca lhes chegavam. Como se os arrozais abandonados o deprimissem, Kimura franziu o cenho ao perceber o vapor que subia de suas largas narinas. Achei que ele devia estar pensando no pai e na mãe, que cuidavam de roças modestas num confim qualquer de Hokkaido. Nem ele nem eu tínhamos visto nossos pais durante os anos de guerra, mas em muitos sentidos Kimura estava mais sozinho do que eu. No pânico que se seguiu à captura do Setor Internacional pelos japoneses, eu me perdera de meus pais ao deixarmos nosso hotel no Bund. Entretanto, tinha absoluta certeza de que voltaria a vê-los, embora seus rostos começassem a se desvanecer de minha memória. Mas Kimura com toda certeza morreria ali, entre aqueles arrozais vazios, quando os japoneses resistissem à ofensiva final dos americanos na desembocadura do Yangtsé.
Apontei os dedos para sua cabeça raspada, como se mirasse com a pistola Mauser do sargento Nagata, e estalei os dedos.
- Eu vi isso, Jamie. - Uma menina inglesa alta, de quatorze anos, Peggy Gardner, se juntou a mim na porta, encolhendo os ombros magros por causa do frio. Cutucou-me com o cotovelo ossudo, para me fazer errar o alvo. - Em quem atirou?
- No praça Kimura.
- Você atirou nele ontem.-Peggy balançou a cabeça ao dizer isso, com sua expressão predileta, uma mistura de seriedade e compreensão. - O praça Kimura é seu amigo.
- Eu atiro nos amigos também. - Surpreendentemente, os amigos eram alvos ainda mais tentadores do que os inimigos. - Além disso, o praça Kimura não é meu amigo de verdade.
- Não é mesmo! A Sra. Dwight acha que você é um informante. Por que gosta de atirar em todo mundo?
O sargento Nagata saiu do Bloco D, de cara feia e segurando a prancheta com a lista de chamada, seguido pelo comandante inglês do
bloco. Peggy me empurrou contra a porta e me puxou as mãos para trás. Já que olhava, desconfiado, para cada haste de capim, o sargento Nagata não gostaria de servir como alvo de meu exercício de tiro. Encostei-me em Peggy, sentindo com prazer o contato de seus pulsos fortes e o cheiro frio e reconfortante de seu corpo. Ela estava sempre tentando engalfinhar-se comigo, por motivos que eu ainda não me interessava em descobrir.
- Por que, Jamie? A essa altura você já atirou em todo mundo em Lunghua. É porque quer ficar sozinho aqui?
- Ainda não atirei na Sra. Dwight. - Essa missionária abelhuda era uma das viúvas inglesas que supervisionavam os oito meninos e meninas no alojamento das crianças, todos separados dos pais, que se achavam internados em outros campos, perto de Xangai e Nanquim. Em vez de procurar fazer com que recebêssemos nossa justa cota de alimentos, cada vez menor, a Sra. Dwight só se interessava por nosso bem-estar espiritual, como a ouvi explicar ao espantado comandante do campo, o Sr. Hyashi. Para a Sra. Dwight isso implicava, principalmente, que eu ficasse sentado em silêncio na casa congelada, quebrando a cabeça com o dever de latim - tudo menos fazer mandados e procurar comida, coisas que ocupavam todos os momentos de meu dia. Para a Sra. Dwight eu era uma “alma livre”, um termo nada elogioso. O bem-estar espiritual parecia ser inversamente proporcional ao volume de comida que uma pessoa recebia, o que talvez explicasse por que a Sra. Dwight e os outros missionários consideravam tão bem-sucedidas suas atividades, antes da guerra, nas províncias do norte da China, onde grassava a fome.
- Depois que a guerra acabar - ameacei -, vou pedir a papai que atire na Sra. Dwight com uma arma de verdade. Ele não gosta nada de missionários.
- Jamie...! - Peggy tentou puxar minha orelha. Filha de um médico de Tsingtao, era um ano mais velha do que eu e fingia chocar-se facilmente. Como eu sabia, era muito mais protetora do que a Sra. Dwight. Quando adoeci, fora Peggy quem cuidara de mim, dando-me um pouco da comida das crianças menores. Um dia eu lhe retribuiria. Ela tomava conta do alojamento das crianças com firmeza mas magnanimidade, e era eu quem representava para ela o maior desafio. Eu gostava de aborrecê-la com uma série de implicâncias, mas ultimamente notara a depressiva tendência de Peggy a imitar a Sra. Dwight, tomando como modelo aquela viúva formalista, como se precisasse da aprovação de uma mulher mais velha. Eu preferia a menina decidida que enfrentava os garotos da turma, salvava os menores das agressões de valentões e tinha uma certa elegância magricela que eu ainda não aprendera a apreciar.
- Se seu pai vai atirar em alguém - comentou Peggy -, podia começar pelo Dr. Sinclair. - Esse pastor de maus bofes era o diretor da escola do campo. - Ele é pior do que o sargento Nagata.
- Peggy...? - Senti uma onda de carinho por ela. - Ele bateu em você?
- Bem que pensou nisso. Está sempre me olhando com aquele sorrisinho dele. Como se fosse meu pai e tivesse de me castigar.
Ainda naquela tarde um dos garotos de dez anos tinha voltado para a casa com um galo vermelho na testa. O que realmente aprendíamos na escola de Lunghua era interpretar os estados de espírito do Dr. Sinclair.
- Você contou à Sra. Dwight?
- Ela não ia dar importância. Só porque cuidam de nós, pensam que podem fazer qualquer coisa. Ela tem muito mais medo dele do que eu.
- Ele não bate em todo mundo.
- Um dia vai bater em você.
- Não vou deixar. - Isso era gabolice, como veria em minha próxima aula de latim. Mas até então eu evitara a mão pesada do pastor. Tinha notado que o Dr. Sinclair deixava em paz os filhos dos ingleses mais ricos. Nunca batia em David Hunter, por mais que David o provocasse, e só dava bofetões nos filhos de supervisores de fábricas, de eurasianas ou de oficiais da polícia de Xangai. Eu nunca conseguia entender por que os pais não protestavam quando os filhos voltavam para seus quartos, no Bloco G, com as orelhas sangrando, atingidas pelo anel do clérigo. Os pais pareciam aceitar aquilo como um lembrete de sua posição subalterna na comunidade inglesa de Xangai.
Irritado com tudo aquilo e querendo me mostrar para Peggy, peguei uma pedra do degrau e a atirei bem alto no ar, por cima da área de desfile.
- Jamie, você se deu mal! O sargento Nagata viu...
Fiquei imóvel, encostado na porta. O sargento estava no caminho de cascalho, a seis metros do alojamento das crianças. Ao me transfixar com o olhar, encheu os pulmões, o rosto estampou o peso de uma lenta mas
vasta emoção. Se a mim os ingleses de Lunghua pareciam complicados, sem dúvida o sargento Nagata os julgava infinitamente mais misteriosos, uma gente empertigada cujos exércitos em Cingapura haviam-se rendido sem opor resistência, mas que agiam como se tivessem ganhado a guerra. Por algum motivo, ele me vigiava de perto, como se eu fosse uma chave para aquele enigma.
Por que ele haveria escolhido um garoto de treze anos entre as duzentas crianças, nunca descobri. Por acaso pensava que eu estava tentando fugir ou servindo de correio secreto entre os dormitórios? Na verdade, em geral os adultos do campo me evitavam quando eu me aproximava deles, ansioso por jogar xadrez, dar minha opinião sobre os rumos da guerra ou a mais recente tática japonesa de guerra aérea. Minha energia logo os cansava e, além disso, eu estava constantemente a antecipar o futuro. Ninguém sabia quando a guerra ia acabar provavelmente em 1947 ou 1948 - e, para resolver a questão do tempo interminável, os internos o apagavam de suas vidas. O ativo programa de palestras e saraus musicais do primeiro ano fora abandonado. Os internos repousavam em seus cubículos, lendo as últimas cartas que tinham recebido da Inglaterra, só despertando ao ouvir as rodas de ferro das carroças de comida. A Sra. Dwight não era a única a perceber os perigos de uma imaginação superativa.
- Jamie, cuidado...-Travessamente, ela me empurrou porta afora. Tropecei no cascalho, mas o sargento Nagata tinha preocupações mais imediatas do que contar crianças. Batendo a prancheta na perna, ele voltou para a casa da guarda. Desapontei-me com sua partida, pois eu gostava de medir forças com ele. Havia nos japoneses alguma coisa, seriedade ou o estoicismo, que eu admirava profundamente. Um dia talvez eu me alistasse na Força Aérea Japonesa, do mesmo modo que meus heróis, os Tigres Voadores americanos, tinham participado na luta a favor de Chiang Kai-shek.
- Por que ele não vem? - Desapontada, Peggy tiritava em seu cardigã remendado. - Você poderia ter fugido... Pense no que a Sra. Dwight diria. Ela faria com que você fosse banido.
- Já estou banido. - Inseguro quanto ao significado da palavra, acrescentei: - Talvez haja uma fuga hoje.
- Quem disse? Você vai com eles?
- Foram Basie e Demarest que me disseram. - Os marinheiros mercantes americanos eram uma constante fonte de informações incorretas, grande parte delas propagada deliberadamente. Por acaso, nada poderia estar mais distante de minhas intenções do que uma fuga. Meus pais estavam internados em Soochow. Seria perigoso tentar cobrir aquela distância a pé, e o inglês encarregado do campo talvez não permitisse a minha entrada. Morriam de medo de que prisioneiros transferidos de outros campos os infectassem com tifo ou cólera.
- Eu teria ido com eles, mas Basie está enganado. - Apontei para a casa da guarda, onde o praça Kimura cumprimentava o sargento com um zelo exagerado. - Sempre fecham os portões quando o sargento Nagata acha que vai haver uma fuga.
- Bem... - Peggy escondeu as faces pálidas atrás dos braços e observou astutamente os japoneses. - Talvez eles queiram que a gente fuja.
- O quê? - Aquelas palavras bateram em mim com a força de uma revelação. Eu sabia, através do rádio secreto do campo, que àquela altura, novembro de 1943, a guerra começara a virar contra os japoneses. Depois de terem atacado Pearl Harbor e de avançar rapidamente pelo Pacífico, haviam sofrido enormes derrotas nas batalhas de Midway e do mar de Coral. Aviões de reconhecimento americanos tinham aparecido sobre Xangai, e em breve começariam os primeiros bombardeios. A atividade militar japonesa aumentara ao longo do rio Huang Pu, e baterias antiaéreas tinham sido instaladas em torno do aeródromo que ficava ao norte do campo. O pagode de Lunghua era agora uma torre de artilharia antiaérea, equipada com poderosos holofotes e canhões de fogo rápido. Os guardas coreanos e japoneses em Lunghua estavam mais agressivos em relação aos prisioneiros, e até o praça Kimura ficou irritado quando lhe mostrei os desenhos que eu fizera do afundamento do Repulse e do Prince of Wales, os encouraçados britânicos postos a pique no mar da China Meridional por bombardeiros de mergulho japoneses.
Motivo de preocupação muito maior era que a comida que nos serviam havia diminuído. As batatas-doces e os restos de trigo, uma grosseira ração animal, eram restos dos armazéns e estavam cheios de brocas mortas e pregos enferrujados. Peggy e eu vivíamos com fome.
- Jamie, imagine... - Admirada com sua própria lógica, Peggy sorriu. - Imagine que os japoneses queiram que a gente fuja, para não ter de nos alimentar. Sobraria mais comida para eles.
Esperou que eu reagisse, e estendeu a mão para me confortar, ao perceber que fora longe demais. Sabia que qualquer ameaça ao campo me perturbava mais que qualquer implicância. O que eu mais temia não era a redução dos alimentos, mas que o campo de Lunghua, que passara a ser todo o meu mundo, descambasse para a anarquia. Peggy e eu seríamos as primeiras vítimas. Se os japoneses se desinteressassem por seus prisioneiros, ficaríamos à mercê dos grupos de bandidos nômades, de renegados do Kuomintang e de desertores dos exércitos-fantoches. Quadrilhas de homens solteiros do Bloco E se apoderariam do depósito de comida atrás das cozinhas, e a Sra. Dwight nada teria a oferecer às crianças senão suas preces.
Senti o braço de Peggy em torno de meus ombros e as batidas do coração em seu peito magro. Na maioria das vezes eu tinha a impressão de que ela estava doente, mas estava resolvido a não deixá-la ir para o hospital do campo. O hospital de Lunghua não era um lugar que melhorasse o estado de seus pacientes. Precisávamos de mais comida para sobreviver ao inverno que se aproximava, mas o depósito de alimentos era aferrolhado com mais cuidado que as celas na casa da guarda.
Assim que soou o sinal de liberação, os internos apareceram nas portas de seus blocos, olhando o campo como se o vissem pela primeira vez. O grande cortiço de Lunghua começou a ganhar vida. Mulheres sem energia penduravam nos varais atrás do Bloco B sua desbotada roupa lavada e esfarrapadas toalhas higiênicas. Uma multidão de crianças correu para a área de desfile, lideradas por David Hunter, que usava os sapatos de couro do pai, que eu tanto cobiçava. Ao vê-lo andar pelo campo, meus olhos raramente se desviavam de seus pés. A Sra. Hunter me oferecera seus sapatos de golfe, mas eu os recusara por orgulho, um gesto bobo de que me arrependia, pois meus tênis de borracha já estavam rasgados como as botas de lona do praça Kimura. A guerra provocara um estremecimento entre David e eu. Eu o invejava por causa de seus pais, e todas as minhas tentativas de me ligar a um adulto compreensivo haviam sido rejeitadas. Só Basie e os americanos se mostravam cordiais, mas sua boa vontade dependia de minha disposição de fazer mandados para eles.
A Sra. Dwight aproximou-se do alojamento das crianças, e seus olhos intrometidos tudo captavam. Deu um sorriso aprovador para Peggy, que segurava um rudimentar balde de metal, feito de uma folha de ferro galvanizado arrancada do telhado pelas tempestades monçônicas. Com a água quente que trazia do posto de aquecimento, Peggy iria lavar as crianças menores e dar descarga na privada.
- Peggy, você vai a Waterloo?
- Vou, Sra. Dwight. - Peggy se curvou, fingindo sentir dores nas costas, e a missionária a afagou com afeto.
- Peça a Jamie que a ajude. Ele não está fazendo nada.
- Ele está ocupado em pensar. - Com toda naturalidade, e me dirigindo um olhar de cumplicidade, Peggy acrescentou: - Sra. Dwight, Jamie está planejando fugir.
- É mesmo? Pensei que já houvesse fugido há muito tempo. Tenho uma novidade para ele. Jamie, amanhã você vai ser transferido para o Bloco G. Chegou a hora de sair do alojamento das crianças.
Despertei de um dos sonhos, engendrados pela fome, em que tantas vezes mergulhava. Os edifícios de apartamentos da Concessão Francesa podiam ser vistos no horizonte, lembrando-me a velha Xangai de antes da guerra, e as festas de Natal, quando meu pai contratava uma trupe de atores chineses para representar uma peça natalina. Lembrei-me dos jogos de bridge na cama de mamãe e do Parque de Diversões Grande Mundo, com seus malabaristas, acrobatas e cantoras. Tudo aquilo parecia agora remoto como os filmes que eu tinha visto no Grand Theatre, sentado ao lado de Olga. Lembrei-me do jeito enfastiado com que ela acompanhava Branca de Neve e Pinocchio.
- Por que, Sra. Dwight? Preciso ficar perto de Peggy até a guerra acabar.
- Não. - A Sra. Dwight franziu a testa ao pensar nessa possibilidade, como se houvesse nela algo de impróprio. - Você vai ficar mais satisfeito com meninos de sua idade.
- Sra. Dwight, eu nunca fico satisfeito com meninos de minha idade. Eles só pensam em jogos.
- Isso é possível. Você vai morar com o Sr. e a Sra. Vincent.
A Sra. Dwight passou a discorrer sobre as maravilhas do quartinho dos Vincents, que eu dividiria com aquele casal gélido e o filho doente. Peggy olhava para mim com um ar de pena, apertando o balde contra o peito, consciente do novo desafio que eu enfrentava.
No entanto, daquela vez eu estava pensando em termos muito práticos. Sabia que seria facilmente dominado pelos Vincents, o intratável jóquei amador, e por sua mulher glacial, que se ressentiriam com minha presença em seu pequeno território. Eu poderia tentar subornar a Sra. Vincent, prometendo-lhe que, se fosse gentil comigo, meu pai a recompensaria depois da guerra. Infelizmente, essa perspectiva não animava os adultos de Lunghua, tão afundados estavam em seu torpor.
Se desejava subornar os Vincents, eu precisava de alguma coisa mais imediata - precisava do artigo mais importante em Lunghua. Sem prestar mais atenção à Sra. Dwight, peguei minha lata de carvões debaixo do catre, gritei um adeus a Peggy e saí correndo na direção das cozinhas.
Voando no vento frio, as centelhas rodopiavam sobre o despejadouro de cinzas entre as cozinhas. Usando apenas calções e tamancos, os dois carvoeiros saíam pela porta ao lado da fornalha, ainda com brasas vivas nas pás. Depois de preparada a refeição da noite, uma papa de arroz, o Sr. Sangster e o Sr. Bowles estavam limpando a fornalha e abafando o fogo. Esperei no topo da pilha de escórias, apreciando os vapores enjoativos na luz do crepúsculo, enquanto via os aviadores japoneses se preparando, no aeródromo de Lunghua, para suas incursões noturnas.
- Cuidado, jovem Jim. - O Sr. Sangster, um ex-contador da Companhia de Força e Luz de Xangai, lançou a meus pés uma cascata de carvões, que cobriram meus tênis e me queimaram os pés através da lona que se desfazia. Dei um salto para trás, imaginando quantas rações extras teriam ajudado a formar os ombros largos do Sr. Sangster. Mas ele fora amigo de minha mãe, e a brincadeira era um meio de lançar as brasas mais valiosas em minha direção. Pequenos favores eram a moeda secreta de Lunghua.
Dois outros catadores de brasas juntaram-se a mim no despejadouro - a idosa Sra. Tootle, que dividia um cubículo com sua irmã no alojamento das mulheres e preparara desagradáveis chás com as ervas e flores silvestres que nasciam ao longo da cerca do campo; e o Sr. Hopkins, o professor de arte da Escola-Catedral, que vivia tentando aquecer seu quarto no Bloco G, por causa da esposa, que sofria de malária. Ele remexia os carvões com uma régua de madeira, enquanto a Sra. Tootle os catava com uma velha pinça de açúcar. Nenhum desses instrumentos era rápido e ágil como minhas tenazes de arame torcido. Naqueles montes de cinzas havia um modesto tesouro de antracito semi queimado, mas raros eram os internos que se dispunham a buscar ali seu aquecimento. Preferiam se apertar uns contra os outros nos dormitórios, queixando-se do frio.
Acocorado, eu catava pedaços de coque, alguns do tamanho de um amendoim, que haviam sobrevivido à fornalha. Atirava-os dentro de minha lata de biscoitos, para trocá-los, quando ela estivesse cheia, por uma batata-doce extra ou um número antigo de Seleções ou Mecânica Popular, que os marinheiros americanos monopolizavam. Essas revistas tinham me ajudado a suportar os longos anos, alimentando uma imaginação desesperadamente carente. A Sra. Dwight estava sempre a me criticar por sonhar demais, mas minha imaginação era tudo o que eu possuía.
Como eu sabia, criticar todo mundo era uma das ocupações prediletas dos ingleses. Sentado em cima da pilha de cinzas, enquanto a Sra. Tootle e o Sr. Hopkins remexiam a escória com ar de desalento, olhei para o campo. Os ingleses nada tinham a esperar, ao contrário dos americanos, cujo mundo era sempre cheio de possibilidades. Todo americano era um anúncio de segurança e sucesso, como as páginas coloridas da Saturday Evening Post, ao passo que cada inglês era uma tabuleta dizendo “Entrada proibida”. Um dia, meu pai me dissera, eu iria à escola na Inglaterra. No entanto, eu já temia que a Inglaterra depois da guerra viesse a ser uma versão ampliada do campo de Lunghua, com todos os seus esnobismos e divisões sociais, suas famílias “finas”, que exibiam patéticas conversas sobre a “vida londrina” como o distintivo de um clube exclusivo, um clube de que eu não queria ser sócio por nada deste mundo.
As brasas sob meus pés perderam enfim todo o calor. Os arrozais inundados e o labirinto de riachos e canais em torno de Lunghua esfriavam o ar noturno. Fiquei a olhar o escapamento dos caças japoneses, aquecendo-me só de pensar em seus poderosos motores. O Sr. Hopkins se afastara do despejadouro de cinzas, levando uns poucos carvões para a esposa inválida, mas a Sra. Tootle continuou a futucar os carvões. Vigorava em Lunghua o regime do toque de recolher, mas os japoneses não faziam muita questão de cumpri-lo. Nas casas e nos prédios de cimento, sem calefação, da antiga escola normal, os internos deitavam-se cedo - isso quando chegavam a se levantar. A Sra. Dwight e as missionárias estavam acostumadas a me ver vaguear pelos dormitórios dos adultos, com o tabuleiro de xadrez, colhendo os últimos boatos sobre a guerra.
Deslizei pilha abaixo na direção da Sra. Tootle e escolhi três bons pedaços de carvão de minha lata.
- Jamie... Não posso levar esses.
- Fique com eles, Sra. Tootle. Diga à sua irmã que eu mandei para ela.
Já pensando em uma xícara de chá de ervas, ela se afastou na escuridão. Tive pena dela, mas precisava afastá-la de meu caminho. Quando fiquei sozinho no despejadouro, oculto pelo teto da cozinha, cruzei de gatinhas o monte de escória até a parede de tijolos do anexo.
Ali ficava armazenado o suprimento de comida do campo de Lunghua para a semana seguinte - sacos de arroz polido e farinha de trigo, fardos de palha cheios de batatas-doces. Agachando-me atrás da parede dos fundos, meti a mão dentro do casaco e tirei uma faca grosseira que fizera com uma baioneta chinesa quebrada. Ao achar a arma num poço abandonado atrás do hospital do acampamento, só restavam uns quatro dedos da lâmina, mas à custa de muito esfregá-la no cimento eu a havia transformado numa ferramenta útil. Durante as muitas horas passadas em cima do monte de escória, esperando o lançamento de carvões queimados, eu notara que a argamassa em tomo dos tijolos não era muito mais dura do que lama seca. Ou os engenheiros japoneses responsáveis pela construção do campo nunca haviam desconfiado que estavam sendo ludibriados pelos empreiteiros chineses, ou não haviam esperado que a guerra durasse mais do que alguns meses, antes que os Estados Unidos pedissem a paz.
Escolhendo a fileira de tijolos mais baixa, comecei a raspar a argamassa, e o barulho da lâmina era abafado pelo ronco dos motores no aeródromo. Dez minutos depois soltei o primeiro tijolo. Com cuidado, tirei-o da parede, meti os dedos no espaço escuro e toquei a palha áspera de um fardo de batatas-doces.
Os dois tijolos de cima caíram em minhas mãos, como se toda a parede do anexo estivesse para desabar. Pareciam barras de ouro na escuridão. Mais tarde eu os devolveria à parede, usando as cinzas brancas para simular argamassa. Com um pouco de sorte, seria capaz de revisitar o depósito de alimentos sem despertar as suspeitas do Sr. Christie, ex-gerente do Palace Hotel, que tomava conta com fanatismo daquelas batatas mofadas do depósito. Se o Sr. Christie mandasse ali, as reservas alimentícias do campo de Lunghua seriam imensas e todos os internos estariam mortos.
Afastei os tijolos, aumentando cada vez mais a abertura. As luzes distantes do aeródromo projetavam na parede, sobre minha cabeça, sombras dos mourões da cerca do campo. Um fardo de palha cobria a maior parte da abertura, mas a luz do holofote me permitia ver o interior do depósito, um mundo misterioso como a casa dos anões de Branca de Neve. Os fardos pesados dormitavam contra as paredes, e seu volume reconfortante me lembrava uma família de ursos adormecidos. As poucas dúvidas que eu pudesse ter a respeito de roubar a comida se dissiparam. O que eu desejava agora era penetrar no depósito e fechar a parede. Peggy e eu dormiríamos ali dentro, protegidos do frio, em segurança, entre os enormes sacos sonolentos...
Um foguete de sinalização explodiu no céu noturno. Sua luz ambarina estremeceu num halo de fumaça branca. Depois caiu lentamente na direção da área que ficava entre a cerca do campo e o limite do aeródromo, refletindo-se num arrozal inundado.
Sem pensar, levantei-me, e minha sombra projetou-se na parede do anexo. A quinze metros de onde eu estava, a luz intensa do foguete iluminou quatro vultos, cujos rostos alaranjados brilhavam na escuridão. Dois daqueles homens já haviam passado por cima do arame, e um terceiro estava ajoelhado, com uma perna metida entre os fios frouxos. Gritaram um para o outro, e o homem preso no arame rasgou a camisa e correu pela grama, na direção do arrozal. A camisa ficou pendurada no arame como uma bandeira esfarrapada.
De ambos os lados da cerca, agitaram-se lanternas. Havia soldados japoneses armados no matagal entre a cerca e o aeródromo. Os homens que pretendiam fugir já tinham parado, à espera que os japoneses se aproximassem deles. O quarto vulto havia permanecido junto da cerca e começou a soltar a camisa estraçalhada. Ao levantar os olhos, reconheci os cabelos louros e o rosto angustiado de David Hunter.
O foguete de sinalização caiu no arrozal e foi engolido por sua superfície negra. Arriscando-me, saí correndo do despejadouro e passei, disparado, pela porta dos fundos das cozinhas. Tropecei em minha lata, espalhando os preciosos carvões, e fui dar bem no facho de uma lanterna que iluminou meu rosto. De fuzil em riste, o praça Kimura bloqueava o caminho que ia dar no alojamento das crianças, e de suas narinas se
elevava a bruma da noite. A seu lado estava o sargento Nagata, com o facho da lanterna assestado em meu rosto e observando seus homens, que reuniam os prisioneiros fugitivos. Depois que foram atirados ao chão, o sargento Nagata fez sinal para que eu me aproximasse dele. Esperei que me esbofeteasse, mas ele apenas me olhou, como se não me reconhecesse ou achasse inacreditável que logo eu, dentre todos os internos de Lunghua, desejasse fugir.
Mais tarde nos sentamos ao longo de uma mesa de madeira na casa da guarda. Os soldados japoneses estavam encostados na parede, com as botas cobertas de grama molhada. O comandante do campo, o Sr. Hyashi, chamado de seus aposentos nos bangalôs do comando, andava de um lado para o outro, fazendo o possível para se controlar. Ex-diplomata que servira na embaixada japonesa em Londres, era um homenzinho paciente e meticuloso. Sendo o único civil japonês do campo, tinha tanto medo do sargento Nagata quanto qualquer prisioneiro. Seu interrogatório era interrompido por longas pausas, pois ele se esforçava para formular as frases em seu inglês canhestro.
Aborrecido com aquela perda de tempo, o sargento Nagata caminhava atrás de nós, dando-nos tapas ao acaso. Eu sentia uma vibração nos ouvidos, como acontecera depois da bomba na avenida Eduardo VII. Tinha certeza de que logo estaria surdo e incapaz de compreender as perguntas hesitantes do Sr. Hyashi.
Numa das pontas do banco de madeira, com o peito e o rosto feridos por coronhadas, estava um londrino de 29 anos, o Marinheiro. Depois de ser expulso da polícia de Xangai por roubar um cule, tornara-se capataz de um terminal da Shell e praticamente não saíra de seu catre desde que fora internado no campo. A seu lado estavam os irmãos Ralston, cavalariços que tinham vindo da Inglaterra para trabalhar no hipódromo de Xangai. Brincavam nervosamente com David Hunter, sentado entre eles de cabeça baixa e com os cabelos louros manchados de sangue.
Eu não entendia por que David, cujos pais se preocupavam com ele, tentara fugir de Lunghua, e evidentemente isso intrigava também o Sr. Hyashi.
- O senhor andou... através da... da cerca? - Ele apontou para Marinheiro. - O senhor?
- Não andamos, não senhor. Nós passamos por cima da cerca - explicou Marinheiro, querendo fazer graça. - Sabe, subindo como se fossem degraus...
O Ralston mais velho inclinou a cabeça, pingando sangue em meu braço, e disse num sussurro:
- Agora entendi onde foi que me cortei.
Os dois Ralstons deram uma risadinha, e o sargento Nagata colocou-se atrás deles, esmurrando-lhes as cabeças. Os irmãos caíram para a frente, atordoados, mas ainda com um meio-sorriso nos lábios. Como não puderam ouvir a pergunta seguinte do Sr. Hyashi, foram esmurrados de novo.
Franzi a cara para David, a fim de avisar-lhe que se mantivesse sério, mas ele fora contagiado pela hilaridade dos ingleses. Sem pensar, David começou a rir junto com eles, enquanto lágrimas lhe corriam pelas faces. Evitou meu olhar, como se lhe agradasse ter sido apanhado e estivesse disposto a ser castigado. Como os chineses, eles riam porque estavam assustados, mas o Sr. Hyashi e o sargento Nagata julgavam que estavam sendo insolentes de propósito - uma atitude muito peculiar aos britânicos, que demonstravam arrogância quando, por erros crassos, tinham sido derrotados.
Sem nada entender, o Sr. Hyashi assumiu seu lugar na cabeceira da mesa, obrigado a presidir aquela louca reunião para a qual sua formação de diplomata não o havia preparado. Estava de pé a poucos centímetros de mim, e senti que ele estremeceu quando o sargento Nagata esbofeteou os Ralstons. Eu estava tão assustado que também tinha vontade de rir, mas já imaginava o que aconteceria quando o sargento descobrisse minha tentativa de invadir o depósito de alimentos.
O Sr. Hyashi olhou para mim, observando meus olhos baixos. Aliviado por encontrar um oásis de sanidade, pôs a mão trêmula em minha cabeça, como que para ter certeza de que eu era real.
- Você não... tentando fugir?
- Não, Sr. Hyashi.
- Não?
- Sr. Hyashi, eu gosto do campo de Lunghua. Não quero fugir. Pela primeira vez o Sr. Hyashi ergueu a mão para conter o sargento
Nagata.
- Não fugir. Bom. - Parecia imensamente aliviado.
O Ralston mais velho encostou-se em mim, com os olhos embaciados pelos golpes.
- Cuidado, menino. Aqui ninguém o protege.
- Todos em Lunghua... - começou o Sr. Hyashi, como se estivesse discursando a todo o campo reunido. Procurou uma frase, e depois deixou o ar escapar dos pulmões, resignando-se visivelmente a jamais dominar aquela língua estranha e seus falantes, ainda mais estranhos. Coberto de sangue, Marinheiro continuava prostrado sobre a mesa, mas os Ralstons ainda não se mostravam acovardados, dispostos a provocar os japoneses e obrigá-los a fazer o pior. Admirei-os pela coragem, tanto quanto admirava os japoneses. Nunca compreendia por que os únicos britânicos corajosos eram aqueles que eu nunca tinha permissão de conhecer, ao passo que os oficiais com quem mamãe e suas amigas dançavam no Country Club haviam-se rendido em Cingapura sem um só tiro.
O Sr. Hyashi apontou o dedo para mim, e depois para a porta. Cinco minutos depois eu estava de volta no alojamento das crianças, regalando Peggy e a atônita Sra. Dwight com a saga de minha tentativa de fuga.
No dia seguinte aconteceu o primeiro ataque americano à luz do dia contra Xangai. Partindo de aeroportos perto de Chunquim, fortalezas voadoras atacaram as docas em Yangtsepu. Finalmente a guerra estava chegando aos japoneses. Preocupados em fortalecer as defesas antiaéreas do aeródromo de Lunghua, eles se esqueceram da tentativa de fuga. Depois de passar uma noite nas celas da casa da guarda, os fugitivos voltaram para convalescer em seus catres no Bloco E. Em estado de choque e com o rosto ainda machucado, David Hunter me olhava da janela do quarto de seus pais, recusando-se a retribuir a meus acenos.
Para meu alívio, ninguém soube de minha tentativa de invadir o depósito de alimentos. Os japoneses cimentaram os tijolos na parede, imaginando que os fugitivos haviam tentado obter rações para a longa caminhada em direção às linhas chinesas, a seiscentos quilômetros de distância.
Para quem se dispusesse a acreditar, eu fingia ter-me juntado ao grupo dos fugitivos no último momento. A Sra. Dwight não esperava outra coisa de mim, mas Peggy balançava a cabeça ao ouvir minhas gabolices, com seu jeito amável e cético. Sabia que eu estava demasiado ligado ao campo para tentar deixá-lo, que todo o meu mundo fora moldado por Lunghua e que ali eu havia descoberto uma liberdade especial que nunca conhecera em Xangai.
Um dia a guerra terminaria, mas no momento eu estava ocupado em aprender a conviver com o pétreo casal cujo quarto eu dividia. Construí em tomo de meu catre uma pequena choça, onde tentava recriar o pacífico interior do depósito de alimentos. Sentado no alto do monte de escórias, enquanto o Sr. Sangster atirava as brasas da noite a meus pés, eu esperava que as bombas americanas incendiassem o céu e pensava na poeira branca e nos caixões estalantes da avenida Eduardo VII.
Debaixo de mim, a argamassa fresca marcava o contorno de uma porta secreta para um mundo interior. Longe de desejar fugir do campo, eu estivera tentando meter-me cada vez mais profundamente em seu coração.
Estavam todos gritando que a guerra acabara. Os prisioneiros debruçavam-se em suas janelas, separados pela área de desfile, acenando uns para os outros e apontando para o céu. Peggy Gardner e uma delegação de missionárias reuniram-se do lado de fora da casa da guarda, espreitando, pela porta, a mesa saqueada do sargento Nagata. Postei-me junto aos portões abertos do campo, contemplando a estrada poeirenta que acompanhava o longo braço do rio Huan Pu em direção ao sul. O céu de agosto era encoberto por camadas de névoa que se superpunham sobre a paisagem desolada como um imenso mosquiteiro. Fiapos de nuvens corriam pela luz nacarada, cosendo pedaços do céu. As trilhas de vapor deixadas pelos aviões de reconhecimento americanos dissolviam-se sobre minha cabeça, talvez os destroços de letras gigantescas que transmitissem uma mensagem apocalíptica.
- O que eles estão dizendo?-gritou Peggy para mim. - A guerra acabou mesmo?
- Pergunte ao sargento Nagata. Eu vou ao rio.
- O sargento Nagata não está mais aqui. Agora você pode voltar para Xangai. - Ela mexia nos remendos do vestido, triste por me ver partir, mas ainda sem certeza de que eu teria a necessária coragem. - Se você quiser...
- Eu volto de noite. Espere por mim no alojamento.
Apesar de toda agitação, ninguém tinha pressa de evacuar o campo, como Peggy notara. Durante dias havíamos ouvido boatos de que os americanos tinham lançado uma nova superbomba sobre o Japão, destruindo as cidades de Nagasaki e Hiroxima. Alguns prisioneiros afirmavam até ter visto o clarão da explosão. Os esquadrões de bombardeiros B-29 tinham cessado seus ataques contra o aeródromo de Lunghua, mas soldados japoneses armados ainda esperavam junto dos canhões antiaéreos. Certa manhã, ao acordarmos, descobrimos que o Sr. Hyashi e os guardas tinham desaparecido, esgueirando-se sob a proteção do toque de recolher. Nós nos mantínhamos junto da cerca, como crianças que, abandonadas por seus professores, relutassem em deixar a sala de aula.
Observávamos, o dia inteiro, a estrada de Xangai, esperando que um comboio de veículos americanos saísse, veloz, do meio da poeira em nossa direção, embora todos soubessem que os americanos mais próximos estavam a centenas de quilômetros de distância, na ilha de Okinawa. Cansados daquele impasse, alguns homens do Bloco E cruzaram a cerca e se meteram pelo matagal. Contemplando o ar silencioso, pareciam tomados de uma estranha inibição, como que esquecidos de quem eram.
Exibindo-me para Peggy, passei por cima da cerca, atrás do Bloco G, e andei na direção de um montículo fúnebre situado a duzentos metros do campo. Subi a escada de caixões meio podres, com seus pequenos esqueletos adormecidos sob colchas de sedosa lama. Dali, à plena luz do dia, fiz um sinal para Peggy, que se apertava contra a cerca, esperando que eu fosse alvejado a qualquer momento. Eu via os hangares incendiados e as pistas cheias de crateras do aeródromo de Lunghua, cercado por restos destroçados de aviões de caça, como também o imutável perfil de Xangai que havia formado o horizonte de meu espírito durante os últimos três anos. No entanto, eu não parava de olhar para o acampamento por cima do ombro, vendo pela primeira vez, daquela perspectiva, os edifícios de cimento e as casas de madeira.
Ao deixar o campo, eu dera um passo para fora de minha própria cabeça. Teriam as bombas atômicas, de alguma maneira, rachado o céu e invertido a direção de tudo? Eu me sentia intranqüilo a céu aberto, um alvo tentador para algum sentinela japonês. Pulei de cima dos caixões, deixando as marcas de meus pés nas colchas macias, e corri para a segurança da cerca. Sem dar atenção aos olhares zangados de Peggy, voltei ao Bloco G e me deitei atrás da cortina de meu cubículo, satisfeito, uma vez na vida, por ouvir a voz do Sr. Vincent, que se queixava à mulher por não terem as autoridades aliadas nos notificado adequadamente do fim da guerra.
Mas, e eu? Queria que a guerra acabasse? No dia seguinte, quando os guardas japoneses voltaram para Lunghua, senti-me secretamente aliviado. Já havia sinais de que a vida no campo descambava para a anarquia. Liderados pelos irmãos Ralston, um grupo de homens tentara arrombar as cozinhas, enquanto outros saqueavam a casa da guarda. As reservas de alimentos estavam quase esgotadas, e nossa ração diária se reduzira a uma tigela de mingau. Os bombardeios americanos haviam imposto uma espécie de ordem, respeitada tanto pelos prisioneiros quanto pelos guardas. Agora o céu estava vazio e exposto, uma casa sem teto.
Felizmente, os japoneses ocuparam a casa da guarda e postaram sentinelas do lado de fora das cozinhas. Mas os soldados estavam pálidos e desassossegados, e o praça Kimura evitava o meu olhar, pois sabia agora que nunca mais veria a família. Até o sargento Nagata estava diferente, me mandando embora com um aceno quando eu me aproximava da casa da guarda, pensando fazer alguma coisa que o animasse. Ficava sentado, teso, atrás de sua mesa acanelada, sem prestar atenção às inglesas e belgas que se reuniam junto da janela, em seus rasgados vestidos de algodão, xingando-o até colares de suor reluzirem em seus pescoços.
Por fim, houve a transmissão do discurso do imperador Hirohito, que conclamou seus exércitos a deporem as armas. Na época, eu ri daquilo. Nenhum japonês haveria de se render. Enquanto tivesse uma baioneta e uma granada, ou um fuzil e um único pente de balas, ele lutaria até a morte. Como todo mundo, eu acreditava piamente que as forças japonesas na China haveriam de montar o último esforço de resistência, contra Chiang Kai-shek e os americanos, na foz do Yangtsé, bem à vista do campo de Lunghua.
No entanto, apareceram no céu os primeiros aviões americanos de reconhecimento, em vôos rasantes sobre o campo, e os canhões antiaéreos do aeródromo permaneceram mudos. Mais uma vez o sargento Nagata e seus homens, que só tinham voltado a Lunghua na esperança de encontrar comida, nos abandonaram, desaparecendo na escuridão da noite. No dia seguinte, ao meio-dia, os dois engenheiros da Companhia de Águas de Xangai, que tinham operado a rádio clandestina durante toda a guerra, colocaram o velho aparelho de baquelite na sacada sobre a entrada do Bloco F. Escutamos finalmente, em gravação, os discursos de vitória de Roosevelt e de MacArthur.
Com que então, pensei comigo, a guerra acabara. Entretanto, mesmo junto dos portões abertos, ainda não estava convencido. As missionárias tinham-se afastado, e Peggy deu de ombros, sem saber o que fazer, e voltou para a casa das crianças, deixando-me entre os mourões podres. Nada ali no campo mudara, mas do lado de fora da cerca estendia-se um mundo diferente. A mesma luz espectral banhava o arroz silvestre que crescia na beira da estrada, as hastes de cana-de-açúcar e a lama amarela dos arrozais abandonados, como se tivessem sido irradiados pela bomba lançada sobre Nagasaki, a seiscentos quilômetros de distância, do outro lado do mar da China. Os canais inundados, os montículos fúnebres, as olarias abandonadas à margem do rio - tudo lembrava um detalhado cenário teatral. Eu tentava sair, mas os sulcos curvos deixados na terra pelo caminhão de suprimentos me levavam de volta ao campo.
Eu sabia, porém, que chegara a hora de ir embora. Meus pais em breve voltariam para nossa casa em Xangai, e eu queria me encontrar com eles enquanto havia ainda uma leve possibilidade de se lembrarem de mim. Xangai ficava a quinze quilômetros de distância, depois de uma área silenciosa de arrozais e aldeias desertas. Eu tinha nos bolsos uma garrafa de água, que Peggy havia fervido para mim, e uma batata-doce. Meti essas coisas em meu calção caqui e cruzei o portão, saindo para a estrada.
Afastei-me pelo campo poeirento, tentando fixar os olhos no que eu via de Xangai. Do outro lado do arame farpado, desenrolava-se mais um dia em Lunghua. A guerra podia ter acabado, mas as mulheres lavavam sua roupa suja e os homens matavam o tempo nos degraus de entrada dos blocos de dormitório. David Hunter e um grupo de crianças menores entregavam-se a uma de suas longas brincadeiras de saltos. David socava o chão com os pés, como sempre arrebatado por seu entusiasmo incontido.
Do lado de fora do alojamento das crianças, Peggy estava sentada com um garotinho de quatro anos, ensinando-o a ler. Chamei-a, mas ela estava demasiado absorta e não me ouviu. Os pais de Peggy levariam semanas para chegar até ali, vindos de Tsingtao, e eu voltaria para cuidar dela. Se Lunghua era meu verdadeiro lar, Peggy era minha melhor amiga, mais próxima agora de mim do que meu pai e minha mãe poderiam vir a ser, por mais que as missionárias tentassem nos afastar um do outro. Muitas vezes brigávamos, mas nos momentos difíceis Peggy aprendera a confiar em mim e a controlar minha imaginação delirante.
Passei pela horta que ficava atrás do hospital, com seus canteiros de feijões e tomates. Peggy e eu os tínhamos cultivado, para aumentar nossas rações, fertilizando o solo com baldes de excrementos que retirávamos da fossa séptica do Bloco G, o único produto útil da existência dos Vincents. A Sra. Dwight se achava na escada do hospital, fazendo uma preleção a um jovem eurasiano cujo pai fora chofer do decano da catedral de Xangai. No passado, ele, um relutante ajudante no hospital, teria se comportado com toda humildade diante da Sra. Dwight, mas eu percebia, por sua mostra de enfado, que o palavreado edificante da missionária já não o impressionava. O poder britânico havia declinado, afundando como os cascos torpedeados do Repulse e do Prince of Wales, e ele podia agora ser novamente um chinês. Como o pai de David freqüentemente observava durante nossas partidas de xadrez, o ataque japonês a Pearl Harbor assinalara a primeira revolta das nações colonizadas do Oriente contra o Ocidente imperial. Xangai, que havia suportado galhardamente a guerra, talvez tivesse mudado mais do que eu imaginava.
Deixando a estrada, virei as costas para o acampamento e me meti no matagal que ia dar no canal na margem do perímetro sul do acampamento. Uma nuvem de mosquitos subiu da água estagnada, saudando-me como se eu fosse a primeira pessoa a penetrar naquele mundo vazio. Libélulas esvoaçavam pelo ar laqueado, em guinadas de azul elétrico refletidas no óleo que vazava de um cargueiro bombardeado em Nantao.
Uma lancha-patrulha japonesa jazia no canal, com sua metralhadora, na torreta blindada, apontando para o céu. Aldeões chineses que voltavam já tinham arrancado pedaços do convés de madeira para servir de lenha. Metralhado pelos Mustangs americanos antes que a tripulação pudesse se proteger, a embarcação estava a se dissolver na lama mole do fundo do canal. Somente o soldado japonês, de bruços na água rasa, ainda era ele próprio, e a corrente fazia brilhar as fivelas de latão de seu talabarte de lona. De pé na margem, acima dele, fiquei a ver a água agitar seus cabelos. Podia ver cada uma das feridas em seu pescoço, e também os pontos inchados de sua camisa grosseira. Baratas d'agua corriam entre seus dedos, lançando no ar brilhos luminosos, como se aquele soldado morto estivesse tamborilando com os dedos debaixo da água e enviando uma última mensagem.
Oitocentos metros depois, o canal fez uma curva para se juntar ao Huang Pu. Deixei a margem e segui pelo capinzal, que me chegava à cintura, na direção da borda circular de uma cratera de bomba. Uma cobra branca nadava na água leitosa, explorando aquele novo ambiente. Além da cratera ficava a estrada de contorno do aeródromo, com seus hangares destelhados ao lado das oficinas bombardeadas.
Atingido pelo último ataque aéreo americano, um soldado do exército-fantoche chinês jazia junto ao talude de uma linha de trem. Bandidos haviam-no saqueado, arrancando-lhe os bolsos e os pentes de munição, e ele se achava cercado por pedaços de papel, páginas de sua caderneta de passe, cartas e pequenas fotografias, a documentação de uma vida que talvez ele houvesse arrumado a seu lado enquanto esperava a morte.
Invejando-o por ele ter possuído todos aqueles pertences, subi o talude da linha, um ramal da ferrovia Hangchow-Xangai, que seguia em direção ao norte, perdendo-se na luz brumosa. Comecei a caminhar entre os trilhos reluzentes, que zumbiam de leve na canícula, ajustando minhas passadas aos dormentes de madeira. Procurei ver o acampamento de Lunghua, mas seus telhados familiares haviam desaparecido. Uma luz intensa, mais elétrica do que solar, pairava sobre os campos abandonados, como se o ar estivesse carregado pela energia irradiada por aquela sinistra arma que explodira do outro lado do mar da China. Fitei minhas mãos, imaginando se teriam sido atingidas, e provei a água morna da garrafa. Pela primeira vez ocorreu-me que todo mundo fora de Lunghua poderia ter morrido, e que só por isso a guerra terminara.
Meia hora depois, tendo caminhado mais de um quilômetro e meio pela névoa, aproximei-me de uma pequena estação ferroviária, ao lado dos trilhos. Havia uma modesta sala de espera e uma bilheteria, com desbotados horários de trens agitando-se no ar. Na plataforma de concreto estavam quatro soldados japoneses, uma unidade de infantaria de campo. Estavam com as suas armas, até mesmo os fuzis, e usavam talabartes de lona e bolsas de munição sobre os surrados uniformes. Talvez estivessem à espera de suas ordens naquela estação rural, ordens que agora nunca mais chegariam. Haviam preparado uma refeição simples num fogão improvisado, usando ripas de madeira arrancadas das paredes da sala de espera, e agora descansavam ao sol do meio-dia.
Fumando cigarros feitos a mão, observavam-me enquanto eu me aproximava deles pelo meio dos trilhos. Retardei o passo, sem saber se devia me desviar dos japoneses. Debaixo do talude havia uma vala antitanques com água, na qual jazia um búfalo morto. A carcaça daquele animal dócil de certa forma me tranqüilizou, e parei para tomar fôlego antes de deslizar pelo talude.
Notei então que um dos japoneses levantara a mão. Olhei para ele,
com meus pés deslizando na terra mole. Resolvi que não iria correr, pois não havia para onde ir e o japonês me daria um tiro sem pensar duas vezes. Dirigi-me para a plataforma e parei diante do soldado que fizera o gesto. Resmungando para si mesmo enquanto acabava um resto da refeição, ele se acocorou ao lado do fuzil. Com as mãos grossas de trabalhador, estava enrolando o fio do telefone, que cortara do poste de madeira junto da estação.
Um chinesinho de camisa branca e calças escuras estava sentado de costas para o poste telefônico, com as mãos amarradas às costas. Círculos de fio lhe rodeavam o peito, e ele ofegava. A boca bem-feita e os olhos serenos lembraram-me os empregados que tinham trabalhado para meu pai antes da guerra. Ele parecia deslocado naquela plataforma ferroviária rural, ao contrário dos japoneses e de mim. O cabo japonês que o amarrava ao poste telefônico apertou os fios, como que para prendê-lo firmemente àquele descampado.
O chinês sufocava, com a garganta subindo e descendo, fazendo força para respirar. Procurando não lhe dar atenção, olhei para o japonês que enrolava o fio. Toda a minha experiência com os japoneses me ensinara a nunca fazer qualquer comentário sobre o que estivessem fazendo, nem tomar partido em qualquer disputa em que estivessem envolvidos. Pensei que o chinês devia ser um prisioneiro importante, e que eles o haviam amarrado antes de tirar a sesta da tarde.
Um dos soldados mais velhos já estava cochilando à sombra da saleta de espera, com a cabeça na mochila. O outro estava sentado ao lado do fogão, raspando cuidadosamente as marmitas. Seus rostos não revelavam emoção alguma, como se todos estivessem cientes de que a guerra acabara mas soubessem que, para eles, isso nada significava.
Apenas o praça de primeira classe que enrolava o fio demonstrava algum interesse por mim. Minha impressão é que tinham estado no interior do país, combatendo os exércitos do Kuomintang e tinham visto poucos europeus. Suas rações deviam ter sido tão parcas quanto as de Lunghua, mas as têmporas largas do praça ainda estavam carnudas, e seus malares achavam-se inchados como os de um pugilista ao fim de uma luta bem disputada. Bateu nos lábios com um dedo enegrecido e limpou a garganta de uma maneira forçada, como se soltasse no ar uma torrente de pensamentos que já não lhe interessavam.
Esgotado pela longa caminhada, recostei-me na plataforma, inseguro quanto a me arriscar a comer minha batata-doce. O cabo que prendia o jovem chinês ao poste telefônico era um homem baixo e com cara de fome, endurecido pela guerra. Assim que levei a mão ao bolso ele começou a me olhar com um ar faminto. Os cheiros de gordura queimada que vinham do fogão faziam minha cabeça girar, e tirei a garrafa d'água do bolso.
Com um resmungo, o praça estendeu a mão. Tirei a tampa, tomei um gole rápido e lhe passei a garrafa. Ele bebeu fazendo barulho, falou alguma coisa ao cabo e devolveu-me a garrafa, desapontado por não encontrar nela nada mais forte do que água. Atirou o rolo de fio na plataforma, ao lado do preso, e depois voltou sua atenção para mim. Um sorriso triste apareceu em seus lábios, e ele apontou para o sol e para o suor que manchava minha camisa de algodão.
- Quente? - falei. - É, são as bombas atômicas... Sabe que a guerra acabou? O imperador...
Falei sem pensar. O único som no ambiente silencioso, embebido na névoa, vinha do chinês. Outro círculo de fio telefônico lhe circundou o peito e ele tentou não respirar, e logo começou a ofegar rapidamente, batendo com a cabeça no poste. Seus olhos já saltavam do rosto. O cabo deu um nó no fio e o apertou com um puxão. Dos lábios do rapaz caíram gotas de saliva sanguinolenta, que lhe mancharam a camisa branca. Ele olhou para mim e disse com esforço uma palavra em chinês, como se fosse um grito de aviso a um cachorro.
O praça de primeira classe olhou apreciativamente o sol, avaliador, instando comigo para que eu bebesse. Parecia ocupado com seus próprios pensamentos, mas a intervalos de poucos segundos seus olhos se fixavam num ponto diferente dos campos ao redor. Estava vigiando o arrozal inundado ao lado da linha férrea, o montículo fúnebre a noroeste, a pontezinha de pedra sobre um canal. Saberia ele que a guerra acabara, que seu imperador ordenara que ele se rendesse? Entre os sacos de lona e as caixas de munição empilhadas contra a sala de espera havia um radiorreceptor só fornecido a tropas especializadas. Talvez tivessem ouvido a notícia de que a guerra acabara, mas essa declaração simples, tão cheia de significado para civis distantes da linha de frente, poderia nada significar para eles. Dentro de semanas as forças americanas chegariam a Xangai, e os exércitos chineses que eles haviam combatido durante tantos anos assumiriam o controle daquela região abandonada, onde eles esperavam, com os pensamentos já muito longe de qualquer esperança de um futuro melhor.
Resolvi comer minha batata-doce enquanto ainda podia. O praça me olhou aprovadoramente, afastando uma mosca de meu ombro. Seu uniforme esfarrapado era uma coleção de remendos, só mantidos juntos pelas tiras do talabarte, do qual o cheiro de suor vinha em ondas quase palpáveis. Enquanto eu comia a casca da batata, ele apontou para um pedaço dela, presa no dorso de minha mão, e esperou até que eu a devolvesse à boca.
Quando ele sorriu para mim, com seu jeito simples, tive uma constrangida sensação de orgulho. Apesar de tudo, eu admirava aquele soldado japonês, com suas têmporas inchadas e o rosto machucado. Ele não passava de um trabalhador, mas a seu modo havia correspondido ao desafio da guerra. Seus ombros fortes, marcados por manchas de eczema e um sem-fim de mordidas de mosquitos, quase rebentavam a fazenda da camisa, seu peito era contido como um animal pelo talabarte de lona. Era um dos poucos homens fortes que eu havia conhecido, inteiramente diferente dos militares britânicos e da maioria dos adultos de Lunghua. Somente o Marinheiro e os irmãos Ralston teriam sido páreo para aquele guerreiro japonês.
Acabei de comer a batata e enxuguei os dedos nos lábios, enquanto via o suor correr do pescoço dele para as reentrâncias de suas clavículas. Desejei ter aprendido mais japonês com o praça Kimura para explicar que a guerra acabara. O prisioneiro chinês na plataforma já mal conseguia respirar, com as costelas esmagadas pelos círculos de fio de telefone. Tinha a testa cheia de contusões e hematomas. Cansado do esforço de dar nós no fio pesado, o cabo arremessou o fio no chão de concreto e pôs-se a caminhar, rígido, pela plataforma.
O praça bateu com os dedos nos lábios, dirigindo uma mensagem a si mesmo. Fez uma careta, ao se lembrar de alguma coisa que o importunava como um mosquito. Decidindo-me a me arriscar, tirei o canivete do bolso de trás. Com a lâmina fechada, ofereci-o ao praça, esperando que ele decidisse experimentar a lâmina e cortasse o fio telefônico que prendia o chinês.
No entanto, ele não se interessou pela lâmina. Cortou uma aba de lona que pendia de sua bota em farrapos e voltou a atenção para o canivete. Achou graça do desenho, um tema de faroeste, gravado no cabo de madrepérola. Seus dedos grossos acompanharam o contorno do vaqueiro, de chapelão e botas de tacão alto, e do laço rodopiante que se assemelhava ao fio telefônico que ele estivera enrolando.
Os trilhos zumbiam no ar quente, produzindo um som que era quase de dor. O chinês caiu bruscamente contra o poste, com o pescoço já meio azul. Levantou a cabeça e olhou para mim com angústia, como se fôssemos passageiros de um mesmo trem e tivéssemos perdido a conexão. Teria quatro ou cinco anos a mais que eu, e cortava os cabelos como a Sra. Dwight sempre me recomendara. Seria um agente do Kuomintang, um dos milhares que havia em Xangai, ou um funcionário que trabalhava para o comando japonês de ocupação e caíra em desgraça?
O cabo deu alguns passos até a linha férrea e juntou gravetos para o fogo. Olhei para o horizonte, na esperança de que uma patrulha americana estivesse se aproximando. A partir do momento em que eu saíra de Lunghua, todos os relógios tinham parado. O tempo se detivera, e somente o ronco distante de um avião americano recordou-me que havia um mundo do outro lado da luz nacarada.
O praça indicou-me, por gestos, que esvaziasse os bolsos. O cabo estava num extremo da plataforma, aliviando-se na linha férrea. As gotas de urina silvavam ao bater nos trilhos, levantando uma grossa nuvem de vapor amarelo. Depois voltou, de pernas meio abertas, até onde estava o prisioneiro chinês. Havia cortado as mãos com o fio, e balançou a cabeça com tristeza ao abaixar-se e pegar o rolo, pronto para retomar o trabalho.
Meti as mãos nos bolsos depressa e estendi meu broche ao praça, na esperança de que a fivela de prata distraísse o cabo. A expressão do soldado iluminou-se de novo quando ele examinou a desgastada imagem de uma vaca. Com a unha do polegar, limpou o cromado descascado e depois prendeu o alfinete junto do fecho metálico de sua bolsa de munição. Ansioso por mostrar sua nova insígnia, gritou por cima do ombro, enchendo o peito. O cabo assentiu com a cabeça, sem mudar de expressão, ocupado demais com os difíceis nós. Deu um puxão no fio, afastando as pernas como um vaqueiro que laçasse um potro.
O praça devolveu-me o broche, percebendo pela primeira vez o cinto de celulóide transparente enfiado nas passadeiras de meu calção de algodão. Esse cinto, que eu conseguira com um dos marinheiros americanos, era o objeto de que eu mais me orgulhava. Em Xangai, antes da guerra, teria sido uma raridade cobiçada pelos jovens marginais chineses.
Enquanto eu soltava a fivela, o soldado me fitou com um ar de malícia. Adivinhei que estava refletindo sobre a pequena má-fé representada por aquele cinto transparente, praticamente invisível de encontro a meu calção caqui. Examinou o cinto, erguendo-o contra a luz como se fosse a pele de uma cobra rara, e experimentou o plástico entre suas mãos fortes. Soprou através dos buracos grosseiros que eu havia aberto, desaprovando com um gesto de cabeça minha falta de habilidade.
- Olhe, fique com o cinto - falei. - A guerra acabou, você sabe. Agora todos nós podemos ir para casa.
Encostado ao poste telefônico, o chinês parará de respirar, e eu sabia que ele logo estaria morto. O cabo trabalhava depressa, passando pedaços de fio em torno do chinês e dando nós com eficientes puxões. Os braços do rapaz estavam presos às costas, mas suas mãos se cravavam nas calças, como se ele quisesse se despir para morrer. Quando a última lufada de ar deixou seu peito esmagado, ele fitou o cabo com um ar desvairado, como se o estivesse vendo pela primeira vez.
- Ouça, o sargento Nagata...
O cinto quebrou nas mãos do praça. Ele me entregou os dois pedaços, percebendo nitidamente, por meu tremor, que eu só não tinha saído correndo graças a muita força de vontade. Seus olhos acompanharam os meus até o segundo poste telefônico na extremidade oeste da plataforma e o fio enrolado no talude. Os outros praças continuaram recostados em suas mochilas, observando-me, enquanto eu enrolava o cinto de celulóide. Um deles afastou a marmita do filete de urina que, partindo dos calcanhares do chinês, corria pelo concreto. Nenhum deles se comovera com a morte do rapaz, como se soubessem que também estavam mortos e se preparassem calmamente para qualquer fim que o sol vespertino lhes trouxesse.
Um rato nadava ao redor da carcaça do búfalo, na vala antitanque. Apesar de ter comido a batata-doce, minha cabeça girava de fome. A bruma se desvanecera, e agora eu avistava tudo nos campos com uma repentina clareza. O mundo aproximara-se da estação ferroviária e estava a expor-se a mim. Pareceu evidente que aquela remota plataforma rural era o ponto de onde todos os mortos da guerra tinham sido despachados para os riachos e os montículos fúnebres de Lunghua. Os quatro soldados japoneses estavam nos preparando para nossa viagem. Eu e o chinês que eles haviam sufocado tínhamos sido os últimos a chegar, e depois que partíssemos eles fechariam a estação e iriam embora também.
O cabo juntou os pedaços soltos de fio, observando-me enquanto eu me encostava na plataforma. Esperei que me chamasse, mas nenhum dos japoneses se moveu. Julgariam que eu já estivesse morto e seria capaz de prosseguir minha jornada sem a ajuda deles?
Uma hora depois, deixaram-me ir embora. Nunca entendi o motivo pelo qual permitiram que um rapazote de quinze anos testemunhasse o assassinato do chinês. Afastei-me pela linha férrea, esgotado demais para continuar a pisar entre os dormentes, à espera que um disparo de fuzil ressoasse nos trilhos de aço. Quando olhei para trás, a estação desaparecera entre os arrozais ensolarados.
A linha virou na direção do norte, juntando-se ao talude da linha férrea Xangai-Hangchow. Desci pelo cascalho, atravessei uma aldeia deserta e segui na direção das fábricas silenciosas nas cercanias da cidade. Ao me aproximar da avenida Amherst, reconheci a catedral em Siccawei e o campus da Universidade Chiao Tung, que servira de quartel-general ao exército-fantoche organizado pelos japoneses.
Continuei a andar pelas silenciosas ruas suburbanas, passando pelas alamedas de casas européias, com seus frontões de enxaméis e suas fachadas de transatlântico. Havia grupos de chineses sentados nas escadas, à espera que seus amos voltassem dos campos de internação, como figurantes prontos a ser convocados ao set de um filme interrompido. O tempo estava para recomeçar a rodar. Mas, por alguns momentos, Xangai, que com tanta paciência eu esperara rever, perdera seu domínio sobre mim.
No dia seguinte, 14 de agosto, finalmente revi meus pais. Durante toda a guerra nossa casa fora ocupada por um general dos exércitos-fantoches chineses. Um único soldado, desarmado, montava guarda quando cheguei à escada, depois da longa caminhada desde Lunghua. Não fez nenhum gesto de resistência quando passei por ele, e desapareceu meia hora depois. Caminhei pela casa silenciosa, com seus cheiros estranhos e seu ar bolorento. Havia jornais chineses sobre a mesa de meu pai, e um disco de música de dança chinesa no prato do gramofone; afora isso, porém, nada-nenhum tapete, nenhuma peça de mobiliário-fora tocado, como se a casa tivesse sido preservada da guerra num nicho. Até meus brinquedos estavam no fundo do armário do quarto de brinquedos - meu forte de papier mâché e meus canhõezinhos da Grande Guerra. Ao segurá-los, eu mal podia acreditar que um dia houvesse brincado com eles, e senti uma vaga pena do menino que os levara tão a sério.
A geladeira estava cheia de tigelas de arroz cozido e com os restos de uma última refeição que o general interrompera antes de abandonar a farda e desaparecer nos becos da Cidade Velha. Servi-me de macarrão frio e carne de porco em conserva, achando esquisito o gosto de gordura animal, e bebi os restos do vinho de arroz guardados nos jarros de pedra. Exausto, sentei-me na varanda e fiquei a olhar o matagal em que se convertera o jardim, e a piscina seca, que fora usada como depósito de lixo.
Meio embriagado e com dores no estômago, devido àquele lauto banquete, vagueei pela casa. Deitei-me no colchão de minha mãe, sentindo o cheiro adocicado do óleo do cabelo do general, e olhei os imponentes banheiros, semelhantes a brancas catedrais, que eu não sabia mais usar. Eu estava a recompor meu passado, mas ele me parecia demasiado exíguo e restrito, tal como os brinquedos no armário. Adormeci na poltrona de meu pai, no gabinete apainelado. As macias poltronas de couro e as paredes escuras recordaram-me o depósito de alimentos em Lunghua, que eu sonhara em partilhar com Peggy.
No dia seguinte, ao meio-dia, meus pais chegaram, num táxi coberto da poeira amarela da estrada de Lunghua. Tinham ido ao campo com a esperança de me pegar. Alegres e sorridentes, abraçaram-me como se não tivéssemos estado separados mais do que alguns dias. Por acaso me reconheciam realmente? Eu estava satisfeito por reencontrá-los, mas parecíamos atores a representar papéis que nos tivessem sido dados com pouca antecedência. Desempenhávamos os papéis de pais e filho, mas alguns dias depois conversávamos com naturalidade e nossa felicidade era sincera. Lembrei-me da voz de minha mãe, de sua boca e seu rosto, porém seus olhos pertenciam a uma mulher mais idosa que nunca havia me conhecido.
Enquanto isso, a vida em Xangai retomava seu curso sem pausa, como se a guerra nunca tivesse acontecido. Yang, o chofer, e a maioria dos criados reapareceram, e eu tinha a sensação de que a qualquer instante Olga chegaria para me dizer que estava na hora de eu me deitar. Durante os jantares de meus pais, metido em desacostumadas roupas novas, comecei a pensar na Xangai de minha infância. Meus pais recebiam seus velhos amigos franceses, ricos homens de negócios chineses e oficiais do exército americano de ocupação. Eu ouvia conversas sobre as mais recentes peças levadas em Londres e na Broadway, os preços de imóveis em Hong Kong e na Califórnia e a enxurrada de antigüidades que famílias chinesas empobrecidas estavam lançando no mercado.
A guerra já havia sido absorvida na história extraordinária de Xangai, juntamente com a bomba da avenida Eduardo VIL o ataque japonês à cidade e os anos de brutal ocupação. Os bens das potências do Eixo, os cotonifícios japoneses e as indústrias alemãs eram rapidamente desapropriados e postos a funcionar. As grandes firmas mercantis reabriram as portas. O porto de Xangai estava coalhado de cargueiros, que traziam mercadorias para as lojas de departamentos da rua Nanquim. Milhares de bares e boates iluminavam o céu desde a tarde. Militares americanos formigavam na cidade, um exército de guerra nas garras de um exército de paz ainda mais disciplinado - os proxenetas chineses e suas fileiras cerradas de prostitutas russas-brancas, chinesas e eurasianas, que os recebiam de braços abertos assim que pisavam o Bund.
No entanto, eu me sentia apartado de toda essa atividade, como se houvesse desembarcado num futuro desconhecido. Haviam acontecido coisas demais, que eu ainda não fora capaz de recordar ou esquecer. Havia uma quantidade excessiva de lembranças de Lunghua que era difícil dividir com meus pais. Durante o café da manhã, papai e eu conversávamos a respeito de nossas experiências, como se descrevêssemos cenas dos filmes exibidos nos cinemas de Xangai. Meu senso de identidade se alterara, e parte de meu espírito se extraviara em algum ponto entre Lunghua e Xangai.
O mais estranho de tudo é que soldados japoneses continuavam a patrulhar as ruas de Xangai. Num dia em que Yang e eu íamos, no Buick do general-fantoche, a um garden party no consulado britânico, apontei para os sentinelas japonesas, de uniformes desbotados, com seus longos fuzis nos degraus da Prefeitura. Yang buzinou, enfiando o Buick entre os cules, mendigos e empregados de escritório, mandando, aos gritos, que os japoneses abrissem caminho. Olhei bem para os rostos ocultos pelos quepes, na esperança de reconhecer o praça e o cabo que eu deixara na plataforma da estação ferroviária.
Outros sentinelas japonesas, a pedido das autoridades americanas e do Kuomintang, montavam guarda a edifícios públicos importantes em toda a cidade. Meu pai me contou que os Franceses Livres que ocupavam a Indochina haviam recrutado unidades do exército japonês para sua luta contra o Viet Minh comunista. Apesar de tudo isso, sempre que eu via japoneses armados lembrava-me da estação ferroviária isolada ao sul de Xangai. Quase acreditava que os soldados japoneses que guardavam a cidade estavam preparando os barmen, as prostitutas e os militares americanos para uma viagem mais longa, que começaria, em breve, daquela plataforma rural.
O primeiro de uma longa série de julgamentos por crimes de guerra teve lugar em outubro, e os idosos generais japoneses que haviam governado Xangai durante a guerra foram acusados de uma lista interminável de atrocidades contra a população civil chinesa. Quase de passagem, ouvimos dizer que os japoneses haviam planejado fechar Lunghua e nos fazer marchar para o interior do país, longe dos olhos da comunidade neutra de Xangai. Não fosse o súbito fim da guerra, estariam livres para dar cabo de nós, e só as bombas atômicas nos haviam salvado. A luz nacarada que pairava sobre Lunghua passou a lembrar-me, daí em diante, o milagre de salvação representado por Hiroxima e Nagasaki.
Uma vez por semana eu visitava o campo, onde ainda se encontravam centenas de ingleses. Sobreviviam graças às rações lançadas de pára-quedas por Superfortalezas B-29 idênticas às que haviam bombardeado Nagasaki. Os mortos e os vivos tinham começado a se cruzar.
Enquanto Yang dirigia pela estrada de Lunghua, eu vasculhava os arrozais em busca de algum sinal da estação ferroviária, esperando ver a plataforma cheia de recém-chegados.
Tentei explicar tudo isso a Peggy, enquanto ela esperava a chegada dos pais, que vinham de Tsingtao. Dei-lhe as roupas que havia comprado na Sincere's, os mais recentes batons americanos, meias de náilon e uma caixa de chocolates suíços. Fiquei feliz por estar com ela novamente no alojamento das crianças, vendo-a experimentar a nova maquilagem. Através do ruge e do batom apareceu um vivido rosto de mulher, mais bonita do que todas as prostitutas do Park Hotel. Quis abraçá-la e lhe agradecer tudo o que fizera por mim, mas nós nos conhecíamos demais. Eu já percebia que ela começara a se libertar do campo e que em breve nos separaríamos.
Casualmente, descrevi a morte do rapaz chinês. Quando acabei, escondendo a emoção atrás de um bombom com licor, dei-me conta de que eu colocara na boca do chinês palavras minhas.
- Jamie, você nunca devia ter ido embora. - Peggy ajeitou uma criança pequena na cama. - Nós tentamos impedir que você fosse.
- Eu tinha de voltar para Xangai. Realmente, eu estava mesmo procurando o sargento Nagata...
- Aqueles soldados poderiam ter matado você.
- Não precisavam fazer isso... eu não estava pronto para eles.
- Jamie, eles não tocaram em você! Você foi na hora que quis.
- Acho que foi mesmo... Não paro de pensar que devia ter ficado. Peggy, eles não me fariam mal nenhum.
Ela já podia ver que eu estava desapontado.
No fim de outubro, ao sair do Catai Hotel depois de almoçar com minha mãe, dividi um táxi com dois pilotos da Marinha americana, que procuravam o Cassino Del Monte. Mostrei ao chofer chinês como chegar à avenida Haig, e vim a descobrir que o cassino fora saqueado pelos japoneses nos últimos dias da guerra. Ao desembarcarmos do táxi, olhando as janelas despedaçadas e o vidro quebrado na escada, notei que David Hunter chamava o chofer do saguão das Mansões Imperiais, um dilapidado edifício de apartamentos do outro lado da rua, onde funcionavam vários bordéis.
Tal como eu, David vestia um terno cinza-claro e gravata, que ele usava com uma certa displicência, comum a todos os jovens ex-internos de Lunghua, como se tivéssemos sido soltos depois de cumprir sentença numa instituição correcional. Às vezes nos encontrávamos todos os dias, mas com freqüência eu fazia o possível para evitá-lo. Ele se recuperara dos bofetões do sargento Nagata naquela noite em que tentara fugir, mas suas perigosas oscilações de ânimo me cansavam. Eu o via muitas vezes na escadaria do Park Hotel, a contemplar, tenso e sorridente, as eurasianas que esperavam americanos. Certa vez ele atraíra uma desconfiada prostituta chinesa de quatorze anos para o Studebaker do pai, que ele apanhara emprestado para nos levar ao estádio de jai alai. No estacionamento, ela se acocorou habilmente no colo de David, sungando em torno da cintura o vestido bordado e gritando alguma coisa, sobre o ombro, para o chofer chinês. Aturdido com a energia e a nudez da moça, obedeci quando David me mandou dar uma volta, mas vinte minutos depois, quando o chofer e eu voltamos, ela estava chutando David, enquanto despejava sobre ele uma cachoeira de obscenidades em chinês e tentava fugir pela janela. David ria às gargalhadas, com as mãos na cintura dela, mas sob os revoltos cabelos claros o rubor de suas faces lembravam as escoriações deixadas pela mão do sargento Nagata.
Ouvi o barulho do vidro que se quebrava sob meus pés diante do Del Monte. Resolvido a fugir de David, deixei o táxi com os pilotos americanos e subi os degraus do cassino. Cadeiras douradas se amontoavam de encontro às paredes ào foyer, e as pesadas cortinas vermelhas tinham sido arrancadas das janelas. O sol inundava de luz as salas de jogos e transformava o salão de danças na cena de um acidente. Uma mesa de roleta estava virada de lado, com fichas espalhadas pelo chão, e a estátua dourada de uma mulher nua e de braços erguidos, que sustentava o toldo do bar, estava jogada sobre um candelabro que caíra do teto, uma princesa congelada num caramanchão cravejado de jóias.
Um garçom chinês e uma jovem européia ajeitavam as cadeiras viradas e juntavam o gesso que caíra do teto. Quando passei por eles, a moça se virou e me seguiu, puxando meu braço.
- James! Me disseram que você tinha voltado! Lembra-se de mim, Olga?
Olga Ulianova, minha ama de antes da guerra, beliscou-me o rosto com seus dedos longos. Sem ter certeza de que era eu mesmo, tateou meus ombros, correndo as unhas, pintadas de esmalte berrante, pelas lapelas de meu paletó.
- Olga, você me assustou! Não mudou nada.- Eu estava feliz por vê-la, embora o tempo parecesse correr em todas as direções. Se eu estava três anos mais velho, Olga parecia estar ao mesmo tempo com vinte e poucos e trinta e tantos. Uma seqüência de semblantes fora gravada nos ossos de seu rosto, camadas de pintura e de experiência através das quais fulgia um par de olhos perspicazes e famintos. Adivinhei que ela passara o tempo resistindo a marinheiros americanos no banco dos triciclos da rua Nanquim. Seu vestido de seda estava rasgado em torno da axila, deixando ver um grande hematoma sob a omoplata, e havia na alça do sutiã uma mancha de batom. Ela me olhava de alto a baixo, e entendi que já desdenhava as experiências de guerra pelas quais eu passara.
- Então... Que terno bonito! O Sr. Sangster disse que você se divertiu bastante em Lunghua. Deve estar sentindo falta.
- Bem... um pouco. Vou levar você lá, Olga.
- Não, obrigada. Já ouvi falar o suficiente desses campos. Muitos bailes e concertos... Aqui foi um verdadeiro inferno, isso eu lhe digo. As coisas que minha mãe teve de fazer, James. Aqui os japoneses não tomavam conta de nós. - Ela suspirou, entregue às recordações. Estava sóbria, mas adivinhei que passara os três últimos anos ligeiramente bêbada.
- Você trabalha aqui, Olga? É a proprietária?
- Um dia... Trabalho em bares, hotéis, cabarés, em toda parte.
Acredite numa coisa, James, esses americanos têm mais dinheiro do que madame Chiang...
- Espero que lhe tenham dado bastante, Olga.
- O quê? Bem, nós ganhamos a guerra, não foi? Diga-me, James, seu pai ainda é rico?
- De jeito nenhum. - A idéia de dinheiro voltara a despertar nela seu declinante interesse por mim. - Ele passou toda a guerra no campo de Soochow.
- Mas ainda pode ser rico. Acredite, descobre-se dinheiro em toda parte. É só procurar direito e puxar com força.
Olga limpou o batom dos lábios, avaliando-me outra vez. Eu já me sentia excitado, como sempre perplexo com sua instabilidade emocional. Em todos os sentidos ela era mais caprichosa e excitante do que as mulheres em Lunghua. Antes da guerra, quando eu me despia ela lançava olhares a meu corpo nu com a curiosidade indiferente de um tratador de jardim zoológico a quem mostrassem um mamífero raro mas desinteressante. Eu imaginava agora que nenhum corpo masculino lhe despeitaria uma centelha de interesse. No entanto, seus olhos me avaliavam como se ela estivesse prestes a depor uma enorme carga física sobre meus ombros.
- Vejo que você ainda é um sonhador, James. Estou pensando em seu pai. Ele poderia fazer um bom investimento agora, enquanto os americanos estão aqui. Há um restaurantezinho na avenida Joffre, são só seis mesas...
Olga deu um passo à frente com seus sapatos altos, tropeçando nos pingentes do candelabro. Para se firmar, segurou com firmeza em meu braço. Seu quadril comprimiu-se no meu, tentando fazer com que eu recordasse alguma coisa que havia esquecido. Um forte cheiro de suor e pó-de-arroz vinha de seu vestido surrado, um cheiro estimulante que eu notara nos alojamentos das mulheres em Lunghua.
Deixei que ela se encosta-se em mim enquanto atravessávamos o salão de baile, pisando os vidros quebrados. Um turbilhão de idéias me encheu a cabeça quando ela esfregou a coxa em minha perna. A guerra acelerara tudo, e eu me sentia cercado de trens em movimento nos quais não conseguia embarcar. Eu queria fazer sexo com Olga, mas não tinha idéia de como abordá-la, e sabia que ela haveria de rir de minha falta de jeito.
Ao mesmo tempo, alguma coisa além de acanhamento me detinha. Parte da atração que Olga exercia estava na idéia de uma volta à infância, mas uma coisa era clara: eu não era mais criança e as brincadeiras de pique-esconde pelas ruas de Xangai estavam acabadas para sempre. Ser criado por empregados, supostamente um privilégio de rico, na verdade expunha uma criança à mais impiedosa manipulação, e eu não tinha a menor disposição de ser manipulado outra vez, fosse por sexo, fome ou medo. Quando eu fizesse amor pela primeira vez, seria com Peggy Gardner.
Eu prestava atenção ao movimento pendular da vassoura do garçom. A mão livre de Olga havia-se esgueirado por baixo de meu paletó e comprimia minha barriga. Ela hesitava, consciente de que poderia ver-se novamente no papel de minha ama, lembrando-se da penúria dos pais, antes da guerra, no cortiço em que eles moravam e das horas enfadonhas que ela suportara cuidando daquele menino inglês, com sua bicicleta e sua imaginação delirante.
A magreza do pescoço de Olga e as veias inchadas de seus seios mostravam que ela se alimentara tão pouco quanto eu nos últimos três anos. Passei o braço por seu ombro, gostando de repente daquela moça valente e de idéias ambiciosas. Somente o praça de primeira classe na estação ferroviária olhara para mim tão fixamente. Eu queria falar a Olga sobre o chinês que morrera, mas a perdida patrulha japonesa já retrocedia para o fundo de minha mente.
- Vai voltar para a Inglaterra, James?
- Depois do Natal... Vou embarcar no Arrawa com minha mãe. - Esse navio de tropas, um antigo cargueiro refrigerado que transportava carnes, repatriaria os cidadãos britânicos residentes em Xangai. - Meu pai vai ficar aqui.
- Ah, é? Que bom. Vou conversar com ele sobre meu restaurante. Você vai estudar na Inglaterra?
- Se for preciso. - Num impulso, acrescentei: - Eu quero ser médico.
- Médico? Que ótimo! Quando eu estiver doente, você poderá cuidar de mim. Agora é sua vez.
Quando saí, prometendo apresentá-la a meu pai, Olga disse:
- Agora você tem o mundo inteiro para brincar de esconder.
Uma semana depois do Natal, deixei Xangai para sempre. Cerca de seiscentos ex-internados, na maioria mulheres e crianças, embarcaram rumo à Inglaterra no cargueiro convertido. Meu pai e os outros britânicos que ficavam em Xangai se achavam no píer de Hongkew, acenando para
nós enquanto o Arrawa se afastava pelas calmas águas escuras. Quando chegamos ao meio do canal, avançando por entre vintenas de contrator-pedeiros e barcaças de desembarque americanas, afastei-me de minha mãe e caminhei até a popa do navio. Os parentes no píer ainda acenavam para nós, e meu pai me viu e levantou o braço, mas para mim foi impossível retribuir seu gesto, algo de que me arrependi durante muitos anos. Talvez eu o culpasse por me mandar embora daquela cidade misteriosa e inebriante.
Quando o último banco e o último hotel desapareceram nas nuvens sobre o Bund, levei minha mala para um dos refeitórios masculinos. De noite estendíamos nossas redes nos conveses abertos, onde antes eram penduradas as carcaças refrigeradas de bovinos da Nova Zelândia. Na escuridão, as centenas de corpos adormecidos balançavam juntos como se fossem talhos de carneiro embalados em lona.
Depois de nossa refeição vespertina, voltei para a popa, quase sozinho no convés, enquanto o Arrawa se aproximava da entrada do Yangtsé. Xangai desaparecera, uma cidade onírica que decidira fechar-se para o mundo. Os arrozais e as aldeias do estuário estendiam-se até o horizonte e tinham somente o mar a separá-los do trecho de terra mais próximo, em Nagasaki.
O Arrawa fez uma pausa em Woosung, preparando-se para rumar na direção do mar da China. Enquanto esperávamos a vazante, aproximando-nos da margem oriental do Huang Pu, passamos por uma grande barcaça americana que estava encalhada na praia. Servia para desembarcar tanques, e não era muito menor que o Arrawa. A proa reta estava bem no meio da lama, como se tivesse sido encalhada deliberadamente naquela costa isolada. A barcaça não oferecia perigo para nós, mas um sinal luminoso piscou em seu passadiço. Membros da Polícia do Exército dos EUA patrulhavam seu convés, fazendo gestos com suas armas para que nos afastássemos.
Havia no ar um cheiro fétido, como se viesse de um esgoto aberto cheio de sangue. Debruçando-me no corrimão de popa, vi que no porão da barcaça centenas de soldados japoneses se comprimiam em fileiras, os de trás com os joelhos nas costas dos que estavam na frente. Todos se achavam em más condições e muitos haviam caído de lado, esmagados pela massa de corpos. Não deram atenção ao Arrawa, e somente alguns oficiais inferiores, algemados, voltaram os olhos para o navio.
Do passadiço da barcaça veio o som forte de um alto-falante. Os guardas americanos gritavam para os oficiais ingleses na casa de comando. Era evidente que o Arrawa surgira num momento inconveniente. Os exércitos japoneses na China estavam sendo repatriados, mas fiquei a imaginar como aquele grande número de homens, que formavam quase uma brigada, conseguiria sobreviver à viagem de três dias até o Japão.
A seguir, percebi outro grupo de soldados armados num rochedo acima dos baixios lamacentos. Nas encostas relvadas havia centenas de infantes do Kuomintang, de quepes e perneiras e com as baionetas caladas, à espera de que o Arrawa se afastasse.
Uma sirene silvou sobre minha cabeça, quase rachando a chaminé. Seus ecos repercutiram nas imensas ondas escuras do Yangtsé. Seguimos adiante, com o hélice agitando as águas e lançando borrifos em meu rosto. A rampa de vante da barcaça de desembarque já começava a ser baixada, e os primeiros soldados japoneses saíam aos tropeções para os lamaçais.
As mulheres dominaram o período que passei em Cambridge - colegas do curso de medicina, alegres enfermeiras de Adden-brookes que eu levava para beber à beira do Cam e soturnas monitoras do Departamento de Fisiologia, que viviam polindo as unhas rachadas atrás dos vidros de embriões -, porém nenhuma foi mais dominadora que a Dra. Elizabeth Grant. Durante meu primeiro período na universidade, eu a vi nua todos os dias, e a conheci mais intimamente do que qualquer outra mulher em minha vida. Mas nunca a levei para a cama.
Lembro-me da manhã de outubro, no Departamento de Anatomia, em que conheci a Dra. Grant. Juntamente com os cem calouros que entravam para a escola de medicina, tomei meu lugar no anfiteatro para o discurso de boas-vindas, feito pelo professor Harris, diretor do departamento. Sentei-me sozinho na fileira mais alta, explicitando a distância que me separava dos outros alunos. Isentos do serviço militar, e todos eles fanáticos por rugby, eram na maioria filhos de médicos da província, que com o tempo assumiriam a clientela dos pais. Já me deprimia a idéia de que dentro de quarenta anos, quando eu precisasse de ajuda, seriam aqueles homens benévolos mas nada imaginativos que teriam minha vida em suas mãos. Mas em 1950 eu nada sabia de medicina, e ainda viria a aprender que imaginação e benevolência quase nada representavam nela.
O professor Harris entrou no anfiteatro e assumiu seu lugar no pódio. Era um galés baixinho e cheio de tiques. Fitou as filas de jovens corados como se fosse um leiloeiro num mercado de gado. Deparou comigo na última fila, perguntou meu nome e me mandou apagar o cigarro.
- Junte-se a nós. Não há por que isolar-se. Vai descobrir que precisamos uns dos outros.
Esperou-me descer, rubro, para as cadeiras situadas mais abaixo. Apesar da humilhação, admirei Harris. Ele e o irmão, ambos agora médicos eminentes, pertenciam a uma família pobre de Swansea, e cada qual trabalhara seis anos para sustentar o outro até ele se formar. Apesar de haver começado tarde, Harris alcançara rapidamente a cátedra de anatomia em Cambridge. Seu idealismo e o fato de não ter desfrutado de privilégios pareciam-me um caso único na universidade, e me identifiquei bastante com ele. É desnecessário dizer que não me dava conta, absolutamente, dos privilégios de minha própria infância.
Ao nos receber como colegas de profissão, Harris nos brindou com uma breve história da medicina, desde os tempos de Vesálio e Galeno, acentuando suas origens plebéias e seu baixo prestígio social - somente em nosso século, em resposta às necessidades emocionais dos pacientes, a condição social do médico se igualara à das profissões mais antigas, e Harris nos advertiu de que ainda em nossa própria vida esse prestígio poderia cair. Na China, lembrei-me, os médicos só eram pagos enquanto os pacientes gozassem de saúde. Os pagamentos eram suspensos durante a enfermidade e só eram retomados quando o tratamento tinha êxito.
Por fim, Harris destacou a importância da anatomia como a pedra angular da medicina, e avisou que alguns de nós seríamos incapazes de suportar as longas horas de dissecção. Aqueles a quem repugnasse o contato com um cadáver deveriam procurá-lo em particular e seriam orientados para outros cursos.
Quantos assim procederam? Ninguém, no ano que passei lá. Lembro-me do silêncio súbito e das piadas constrangidas, quando entramos na sala de dissecção, parte boate, parte abatedouro, com um teto iluminado de vidro fosco. Nas mesas de dissecção, em decúbito dorsal, esperavam-nos cerca de vinte cadáveres. Encharcados de formaldeído, tinham a cor de marfim amarelo. Mais que tudo, era o lustre de sua pele que caracterizava os mortos, como se a personalidade deles houvesse migrado, esperançosamente, para a superfície de seus corpos. A luz dura destacava todo tipo de defeito, sinais e cicatrizes de operações, verrugas e tatuagens descoradas, um dedão do pé amputado e um par de mamilos extras no peito de um cadáver com físico de pugilista. Cada corpo era um atlas a registrar as jornadas de toda uma vida.
Assumi meu lugar junto à mesa com tampo de vidro que me fora destinada e arrumei meu manual de dissecção e os instrumentos. Já notava alguns olhares de curiosidade. O cadáver que me coube era o de uma mulher, o único dentre os vinte. Para fins de dissecção, o corpo humano era dividido em quatro seções: tórax e abdome; cabeça e pescoço; braço; e perna. Cada uma dessas partes, a ser dissecada por uma dupla de estudantes, ocuparia um período. Eu não conhecia na escola de medicina ninguém com quem pudesse formar dupla, além de Peggy Gardner, que estava em seu último ano em Cambridge, e resolvi escolher um cadáver ao acaso. Passando os olhos pela lista, notei que um deles era identificado como “17F”. Sem hesitar, escrevi meu nome a seu lado.
Com efeito, vi-me sentado ao lado da cabeça calva de uma mulher de ombros largos, que morrera já bastante madura. Finos pêlos louros subiam de suas sobrancelhas, lábios e púbis, que haviam sido raspados, e seu rosto tinha a firmeza de uma diretora de escola ou de uma chefe de enfermagem de hospital. Em quase tudo era indistinguível dos cadáveres masculinos - os seios tinham afundado no tecido adiposo do tórax, ao passo que os órgãos genitais dos homens haviam murchado -, mas ela já era objeto de atenção. A maioria dos estudantes passara os anos da guerra em internatos, transferidos para longe das cidades bombardeadas, e provavelmente nunca tinham visto um corpo nu, quanto mais de uma mulher madura.
Só Peggy Gardner não se deixou impressionar, quando entrou na sala de dissecção e me encontrou trabalhando com meu parceiro, um dentista nigeriano de seus trinta e poucos anos, que estava fazendo um curso de anatomia.
- É preciso trabalhar muito mais aqui - disse ela, reprovadora. - Vai ter de retirar toda a gordura para poder chegar à fáscia.
- Foi o que me coube por sorte. - Embaraçado, acrescentei: - Por algum motivo, fiquei com a Rainha da Noite.
- Bobagem. E isso é muito desrespeito, Jamie. Você ainda faz o que pode para ser diferente. Não mudou em nada desde Lunghua.
- Peggy, suas palavras parecem uma sentença de morte.
Eu podia não ter mudado, mas Peggy se transformara bastante em relação à garota magrela de dezesseis anos que viajara para a Inglaterra comigo a bordo do Arrawa. Lembrei-me de quando ela começara a imitar os afetados maneirismos da viúva Dwight. Peggy havia passado seus primeiros anos de Inglaterra num mundo sem homens. Por trás de seu modo elegante de caminhar eu via as solteironas seguras de si que haviam sido suas professoras no internato perto de Brighton. Chique e muito arrumada, ela passava como uma princesa entre os jovens manifestantes, que procuravam chamar-lhe a atenção.
Mas Peggy, ao menos, parecia estar à vontade na Inglaterra, que para mim era uma zona de trânsito entre meu passado na China e um futuro que, irritantemente, não dava nenhum sinal de chegar. Eu estava encalhado num pequeno país cinzento onde o sol raramente se erguia acima dos telhados, um labirinto de classes e castas que se ampliava eternamente de dentro para fora. Os anos na escola tinham-me mostrado até que ponto eu estava deslocado, pois os outros rapazes tratavam-me bem, mas a distância, como se me considerassem ameaçador, de alguma maneira indefinida. Eu pensava o tempo todo em voltar para Xangai, mas esse caminho de fuga fora fechado em 1949, quando Mao Tsé-tung assumiu o poder na China.
Pouco tempo depois de chegar a Cambridge, convidei Peggy a ir a meu apartamento no King's College, cujas janelas davam para a capela barulhenta, onde o órgão tocava o dia inteiro. Contente por tornar a vê-la, fiquei a observá-la. Ela caminhava por minha saleta, balançando a cabeça para as reproduções de Magritte e Dali sobre o aparador e para os romances de Camus e Boris Vian. Lembrei-me da época em que havíamos morado juntos no alojamento das crianças em Lunghua e ela me explicara cuidadosamente a maneira correta de coser um botão de camisa, um processo que compreendia pelo menos doze etapas. A habilidade doméstica era capaz de manter a distância qualquer demônio, qualquer fome.
- Por que você lê essas coisas? Você não está na Sorbonne. Ninguém aqui ouviu falar dessas pessoas.
- Peggy, aqui em Cambridge ninguém ouviu falar de coisa alguma. Os mestres só estão interessados em madrigais idiotas e em se tornarem catedráticos. Tudo isso aqui é um falso desfile gótico, com um elenco de milhares de bicicletas.
- Não é nem gótico nem falso. - Peggy virou os romances de cabeça para baixo sobre o aparador, evidentemente preocupada comigo. - Quando construíram a capela do King's, ela era mais moderna do que Le Corbusier, e representava uma coisa suficientemente maluca para até você acreditar. Vai ao Cavendish... foi lá que Rutherford dividiu o átomo.
- Ouvindo você falar, até parece que se trata da cabana de Anne Hathaway. Conheci E. M. Forster... ele apareceu na festinha do preboste ontem. Um velho de suíças e olhos tristes, como um tarado que ataca crianças.
- Ótimo. - Peggy fez um gesto aprovador. - Finalmente você está conhecendo o lado real do King's College. Ele pôs a mão em seu joelho?
- Esperei que fizesse isso, mas não tive essa sorte. Realmente, esse é o lado real do King's. Se você prestar bem atenção, vai ouvir os meninos do coro soluçando. É por isso que tocam órgão o dia inteiro.
- É que você está velho demais para ele, só isso. Aquelas enfermeiras do Addenbrookes fazem mais o seu gênero. Hão de corrompê-lo inteiramente... com toda essa conversa sobre psicanálise.
- Psicanálise? Se chego a falar sobre isso, deve ser comigo mesmo. Aqui a psicanálise é vista como um tipo de piada meio forçada da pequena burguesia européia. - Pela janela, vi os turistas americanos diante da capela.-Ontem, eu vi um Chevrolet no estacionamento do Departamento de Psicologia... Deve ser o único da Europa. Puxa, eu me lembrei de Xangai e de todos aqueles americanos.
- Por quê? Pare de pensar em Xangai e em Lunghua. Tudo isso acabou.
- Para falar a verdade, não penso nesses lugares. Mas eles não acabaram.
Peggy me segurou pelos ombros, como se estivéssemos de volta ao alojamento das crianças e ela quisesse me avisar que não provocasse o sargento Nagata.
- Jamie, meta uma coisa na cabeça... Você está aqui, na Inglaterra.
- É... De um jeito esquisito, Lunghua era uma versão reduzida da Inglaterra. Eu ficava pensando por que ninguém tentava fugir.
- Para onde fugiriam?
- Não era por isso. É que Lunghua lembrava a eles a pátria. Lembra-se de todas aquelas tabuletas? “Estação Waterloo”, “Piccadilly Circus”, “The Serpentine”? Isso era um charco estagnado que transmitia malária.
- Essas coisas animavam as pessoas. Além disso, você se esqueceu de que algumas pessoas fugiram. Era você quem queria que a guerra
durasse eternamente. Enquanto David e os Ralston tentavam escapar, você tentava invadir. As pessoas achavam muito engraçado.
- O depósito de comida? Então, todos sabiam? Eu queria que a gente vivesse ali para sempre. Assim como João e Maria. Meu Deus, eu era apaixonado por você...
Mas, quando coloquei as mãos na cintura dela tentando agradecer-lhe tudo que fizera por mim em Lunghua, ela se afastou. Sentei-me na poltrona, enquanto o órgão rugia na capela, pensando nos velhos lascivos que haviam infernizado o último ano de Peggy no campo. Havia em meus livros e minhas reproduções alguma coisa que a desorientava; talvez ela temesse que Cambridge pudesse ser desmantelada como a Tsingtao de sua infância. Os romances franceses e meu simulado ar blasé não eram apenas frívolos e adolescentes, mas sim perigosos, como minha decisão de dissecar um cadáver de mulher. Peggy tinha sido meu primeiro amor, mas, infelizmente, não minha primeira amante. Ela me conhecera demais em Lunghua, dando-me banho e me alimentando quando ficava doente; e havia partilhado comigo uma excessiva tensão emocional para desejar que nos aproximássemos outra vez.
Durante as semanas seguintes, ao começar a dissecar a mulher, compreendi que minha decisão tinha sido correta. Eu participava da vida estudantil, embebedando-me no rio com as enfermeiras de Addenbrookes, jogando tênis com meus colegas do King's, mas em todos os outros sentidos a universidade continuava a ser uma cidade estrangeira. Às vezes eu acordava em meu apartamento, despertado por uma das intermináveis peças de órgão, e não conseguia me lembrar de onde estava. Então, sentia o cheiro dos minúsculos resíduos de gordura humana e de formalina nas mãos e me lembrava da mulher na sala de dissecção. Eu a imaginava na sala escura, tão morta quanto um faraó. Sua plácida presença se impunha tanto aos cadáveres quanto aos estudantes. Expondo-se aos rapazes que manejavam bisturis, ela estabelecia uma espécie de ordem em minhas lembranças dos mortos chineses e japoneses que tinha visto na guerra.
À medida que as quatro duplas de estudantes passaram a dissecar aquela mulher desconhecida, abrindo abas de pele em seus membros, pescoço e abdome, ela parecia despir-se num último ato de auto-revelação, desfazendo-se de todos os elementos mortais de sua vida. Sentado a seu lado, eu retirava a pele de seu ombro, dividindo os músculos e expondo os nervos de seu plexo braquial, os tendões que haviam feito com que ela movesse os braços ao acariciar o marido, escovar os cabelos, embalar o filho. Tentava ler seu caráter nas cicatrizes sob o queixo, talvez sinais de um acidente de carro, na raiz do nariz forte, que um dia quebrara, na mancha da têmpora direita, que talvez ela disfarçasse com uma onda de cabelos louros. Fingindo ler meu Cunningham, o manual de dissecção cujas páginas estavam agora manchadas pela pele da morta, eu fitava seus quadris matronais e os calos dos dedos de sua mão esquerda. Seriam os de uma violoncelista amadora...? Quando abríamos as portas de seu corpo, os estudantes e monitores que trabalhavam em outros cadáveres paravam às nossas costas, atraídos para aquela mulher solitária entre os homens mortos. Somente ela escapava a todas as obscenidades e gracejos da sala de dissecção.
Na esperança de identificá-la, conversei com os assistentes na sala de preparação, e só fiquei sabendo que tinha sido médica. Quase todos os cadáveres eram de médicos que haviam doado os corpos antes da morte. Comoveu-me pensar que, mesmo na agonia, aqueles homens e aquela mulher tinham-se oferecido como legado à próxima geração de médicos, um magnífico testemunho do espírito que os animava.
Consciente do poder que ela exercia sobre mim, e ansioso por sair de Cambridge de vez em quando, por algumas horas, comprei uma motocicleta Triumph e comecei a fazer passeios pela planície que ficava ao norte da cidade, uma região de brejos e cursos d'água que se assemelhava vagamente às cercanias de Xangai. Por trás das sebes estendiam-se esquecidos campos de pouso usados na guerra, dos quais havia sido lançada a ofensiva contra a Alemanha, mas havia novas bases, maiores, onde bombardeiros nucleares se achavam estacionados em áreas de dispersão fortificadas. Veículos militares americanos patrulhavam as pistas, e a bandeira dos Estados Unidos tremulava em mastros junto aos portões. Chryslers e Oldsmobiles passavam pelas estradas rurais, repentinos sonhos cromados, dirigidos por homens corpulentos e pensativos e por suas mulheres bem vestidas, que fitavam os campos em tomo com os olhos confiantes de uma potência de ocupação. Em suas bases cuidadosamente protegidas, estavam preparando a Inglaterra, ainda manietada pelas memórias da Segunda Guerra Mundial, para uma terceira, ainda por acontecer. Nesse dia o clarão atômico que eu avistara sobre Nagasaki haveria de transportar aqueles campos descoloridos e o gótico sem graça da universidade para o império da luz.
Toda tarde, ao sair da sala de dissecção, eu passava pelo Chevrolet azul estacionado diante do Departamento de Psicologia. Devia pertencer a algum detentor do prêmio Nobel, de Harvard ou do MIT. Admirando o carro, bem como o disco de Stan Kenton atrás do banco traseiro, notei um plástico que, colado no pára-brisa, convidava voluntários para participar num novo projeto experimental. Quase todos os voluntários do departamento eram estudantes de medicina, com os quais se podia contar para fazer exercícios em esteiras ergométricas com fios elétricos presos no peito ou pedalar em bicicletas fixas.
Hesitei antes de empurrar as portas de vaivém da sala indicada, imaginando se gostaria mesmo de passar a tarde com uma das monitoras de fisiologia e suas unhas rachadas. Um professor estava ajoelhado no chão, absorto no conserto de uma cafeteira elétrica. Não me deu atenção até terminar o que fazia, e depois entregou a máquina a uma colegial alta e de cabelos escuros, que esperava ao lado da mesa da secretaria.
- Muito bem... Primeiro café, depois psicologia. - Erguendo os olhos para mim, ele perguntou: - Outra vítima? Precisamos de todos os voluntários que pudermos conseguir. Miriam, preencha o atestado de óbito dele.
Eu já tinha reconhecido a estrela ascendente do Departamento de Psicologia, o Dr. Richard Sutherland, presumivelmente o dono do Chevrolet e do disco de Stan Kenton. Lembrando mais um ator de cinema do que um lente de Cambridge, era um bem-apessoado escocês com uma cabeleira ruiva que ele penteava de modo a obter o máximo efeito. Calçava tênis de basquete, camiseta e jeans, roupas que em Cambridge só se viam no corpo de militares americanos de folga. Na parede, atrás dele, havia uma hélice de madeira de um Tiger Moth, uma placa de carro de Nova Jersey e uma fotografia, emoldurada, em que apareciam ele e Von Neumann. Sutherland havia se doutorado em Princeton, e corria até o boato de que aparecera na televisão, o que configurava uma carreira inconcebivelmente veloz para um acadêmico de Cambridge.
Lançou-me um olhar afável, como seja dispusesse de uma avaliação operacional de meus motivos.
- É calouro de medicina...? Como foi que adivinhei? O formol... Seu cheiro é igual ao de um papa-defunto de Glasgow. Vou lhe mostrar a experiência que estamos fazendo.
Observado pelos olhos aprovadores, mas maliciosos, da colegial, ele
me expôs rapidamente o experimento, que se propunha a comprovar persistência da imagem nos centros óticos do cérebro.
- Você vai achar fascinante... Vai ver, literalmente, o cérebro funcionando... Isso se vocês, calouros de medicina, têm cérebro, coisa de que Miriam tende a duvidar. Primeiro, gostaríamos que preenchesse este questionário. Precisamos ter uma idéia de seu perfil psicológico. As pós-imagens são mais persistentes nos introvertidos que nos extrovertidos? Não é nada de pessoal, não estamos interessados em saber se você se sentia excitado por sua avó.
- Ela se sentia excitada por mim.
- É isso aí, garoto! Miriam, cuide dele, está pronto para confessar.
- Estou procurando o parafuso de borboleta, Dr. Richard. Sutherland pegou um casaco americano de esquiar, pendurado na maçaneta da porta.
- Miriam faz a sexta série da Perse, e está me ajudando enquanto minha secretária dá à luz. Vejo você depois de minha aula.
Deixou-nos enquanto Miriam me submetia ao questionário. Lia as perguntas com um arremedo de solenidade, observando-me com firmeza enquanto eu me complicava com as respostas. Brincava com as contas de uma pulseira, como se calculasse suas primeiras impressões a meu respeito. Poucos pontos, imaginei. Apesar do uniforme escolar, ela só tinha um ano menos que eu e exercia um completo domínio sobre o escritório, manuseando as pastas grossas como uma funcionária experiente. A gravata frouxa, a túnica amarrotada e a mancha de laboratório na camisa de algodão lhe davam um ar de despreocupada sedução. Teria ela acabado de levantar-se da cama desfeita que eu via na sala interior? Já estava a imaginar se ela e o Dr. Sutherland eram amantes.
Só ao se inteirar de que eu nascera na China foi que se interessou propriamente por mim.
- Xangai? Passou a guerra lá?
- Fui internado pelos japoneses. Conhece Peggy Gardner?
- Claro... Ela impressiona todo mundo aqui.
- Ela ficou no mesmo campo.
- Peggy? Estranho. Por que ela não fala disso?
- Não aconteceram muitas coisas.
- Não posso acreditar. Quanto tempo você e Peggy ficaram lá?
- Três anos. Eu nunca penso nisso.
- Talvez devesse pensar. - Usando uma caneta esferográfica americana com a forma de uma astronave prateada, ela verificou minhas respostas, erguendo as sobrancelhas enquanto seus dedos corriam pelas contas da pulseira. - Depois você veio para a Inglaterra e estudou na Escola Leys... Posso imaginar como se sentia.
- Foi ótimo. Muito parecida com o campo, só que a comida era pior.
- Ah, eu sei o que é comida de colégio. Eu me recuso a comer a do meu. Praticamente comandei uma greve na semana passada. - Baixou a voz. - Só estou trabalhando aqui por causa dos chocolates de Richard.
- Por que trabalha para ele?
Ela levou a mão à mancha em sua túnica, e entrevi seus seios.
- Eu costumava ficar matando o tempo por aqui depois da escola... sem dúvida, é o departamento mais interessante. Assisto a muitas aulas... de Leavis, Ryle, Leach. As de Richard são as melhores. Um dia ele me deu carona no carro dele. - Sorriu ao lembrar-se.
- Vai estudar psicologia aqui?
- Nem pensar! Já passei tempo demais em Cambridge. Meu pai é o tesoureiro de Fitzwilliam Hall. Quero ser garçonete em Nova York ou morar numa ilha deserta com três desconhecidos. Faço qualquer coisa para sair daqui.
- Eu tenho uma motocicleta. Por que não compra uma?
- Vou comprar! - Percebendo que eu talvez não acreditasse, ela disse com certo orgulho: - Tentei entrar para a RAF. Richard me levou para dar uma volta em seu Tiger Moth e disse que tenho muito jeito para pilotar. A RAF teve a coragem de me recusar, disseram alguma coisa sobre a inexistência de banheiros na força de bombardeiros. Meu Deus, se posso pilotar um avião posso aprender a fazer xixi numa garrafa de leite.
- Bem... O professor Harris diz que a anatomia é a base de tudo.
- Ele tem razão. E então, por que está fazendo medicina?
- Já me esqueci. Achei que queria ser psiquiatra.
- Mas por quê? O que precisa curar? Alguma coisa a ver com a guerra?
Hesitei, desconcertado com aquela colegial esperta e suas perguntas astutas.
- Talvez, sim. Ainda não descobri.
- Bem, você vai descobrir. - Falava com completa confiança em mim. - E agora você está retalhando seu primeiro cadáver. Trate-o com respeito.
- Naturalmente. Na verdade, é uma mulher.
- Uma mulher? - Ela assoviou, através de um dente quebrado. - Você é meu primeiro necrófilo.
- De certa forma, isto não está longe da verdade.
- Continue. Suas respostas estão sendo registradas secretamente.
- Nada. A gente acaba se tornando muito íntimo. A coisa se transforma numa espécie de casamento.
- Um momento! O professor Harris vai ter de tirar você da cadeia. - Ela se recostou na cadeira e pôs os pés sobre a mesa, mostrando as pernas compridas e a pele branca das coxas através dos furos nas meias pretas.
- E aí? - perguntei.
- Em vez dos mortos, por que você não experimenta os vivos?
Com seu modo brincalhão, aquela colegial inteligente penetrara em minha fachada de irreverência de calouro e entendera que eu ainda estava aflito com os fatos da guerra, que pareciam novamente se impor sobre a serena paisagem de Cambridgeshire. Os estudantes impeliam suas chalanas pelo Cam, conversavam interminavelmente nos bares e discutiam os assuntos do dia na União, imitando o tom de voz da Câmara dos Comuns. Enquanto isso, nos aeródromos que circundavam a universidade, acumulavam-se bombardeiros americanos para um choque nuclear final.
Nas tardes de domingo, eu levava Miriam de motocicleta ao aeroporto de Cambridge, onde ela ficava vendo Richard Sutherland sobrevoar a pista em seu Tiger Moth. Depois eu a levava às grandes bases americanas em Lakenhead e Mildenhall, e caminhávamos juntos, no vento de novembro, para ver os bombardeiros nucleares. Certa vez demos com uma dilapidada base aérea inglesa, onde Liberators da Segunda Guerra tinham sido reunidos em áreas de estacionamento, longe de seus hangares. Enquanto Miriam vigiava, passei por cima da cerca de arame e me aproximei de um dos bombardeiros. Através da portinhola inferior, subi para dentro da fuselagem cheia de equipamentos. O vento socava o avião e flexionava suas pesadas asas, e eu me imaginei a decolar para leste.
- Jim, você está fazendo tudo o que pode para ser preso - disse-me Miriam quando voltamos ao King's. - Onde está seu pai agora?
- Ainda está na China.
- Você só vai se sentir em seu país quando ele voltar para a Inglaterra.
- Ele não vai sair de Xangai ainda por algum tempo. Foi processado e julgado pelos comunistas. Felizmente, ele leu mais Marx e Engels do que os camponeses que eram os juizes, e por isso o soltaram.
- Há uma moral aí... - Miriam tomou-me o braço enquanto nos aquecíamos junto da lareira, correndo os olhos pelas reproduções surrealistas. - Ernst, Dali, o Facteur Cheval... eles é que são seu verdadeiro currículo. Não deixe Peggy Gardner jogar essas coisas fora. Agarre-se à sua imaginação, mesmo que ela seja um pouco sinistra.
- Miriam... - Eu tinha escutado aquilo muitas vezes na escola. - O mundo é sinistro. Você nunca teve de confiar em sua imaginação, graças a Deus.
- A qualquer momento agora, ele vai começar a cavar um túnel. Eu contara minha tentativa de arrombar o depósito de alimentos em
Lunghua, uma história que Miriam achou cômica mas de uma estranheza comovente. Eu já estava apaixonado por aquela colegial sagaz, de olhar penetrante e arrebatados entusiasmos. Às vezes ela se desinteressava por mim, preocupada com algum ressentimento com uma das professoras da escola Perse, ou depois das infindáveis brigas com a mãe por beber nos bares freqüentados por estudantes. Os inspetores haviam-se queixado ao pai dela que tinha sido vista numa chalana com um grupo de rapazes de Trinity, ameaçando-os com uma caneca de cerveja em cada mão.
Cada momento a seu lado produzia uma surpresa. Contou-me que os experimentos óticos imaginados por Richard Sutherland não passavam de um disfarce, parte de um teste mais amplo para determinar os perfis psicológicos de estudantes que se apresentavam como voluntários para participar de experimentos médicos. Os pesquisadores tinham sempre imaginado que os voluntários constituíam um típico corte transversal do universo estudantil.
- Mas isso não é verdade. Richard acha que os que se apresentam são extrovertidos agressivos ou introvertidos neuróticos.
- E onde estão os normais?
- Esses nunca se apresentam. Ou estão se embriagando ou bolinando as namoradas no rio.
- Chame o professor Harris... - Estávamos deitados na cama, e tateei debaixo do lençol. - E eu, onde fico?
Miriam apertou minha cabeça no travesseiro e afastou os cabelos de meus olhos.
- Jim, você é um criminoso de guerra.
- O quê?
- Ou pensa como se fosse. Richard e eu estivemos conversando sobre você.
- Outro teste falso.
- Escute, se tirarmos fora a guerra, você se comportava como uma criança esquizofrênica. Richard tem um paciente cujo filho era esquizo. Passou vinte anos tentando matar-se, em silêncio. Era tudo o que ele queria fazer.
- E daí?
- Esqueci. Seja como for, você não vai se matar. Preciso de você pelo menos durante as próximas três semanas. - Miriam apoiou-se no cotovelo, com o seio direito sobre meu peito, e ficou traçando linhas com a unha em torno do mamilo. - Me diz, é esquisito dissecar uma mulher? Você disse que ela é a única lá.
- Fale baixo, ela é a rainha dos mortos.
- Eu sei, ela é minha maior rival. Você consegue se imaginar me dissecando? Por onde ia começar?
Sorrindo, virei-me para Miriam, puxando os lençóis esfiapados, de modo que a luz da lareira lhe iluminasse os quadris largos e o tórax.
- Não sei... De certa maneira, a dissecção é uma espécie de autópsia erótica. Poderíamos começar com o triângulo cervical, o que me pouparia ter de torcer seu pescoço... - Beijei a manchinha sob o queixo de Miriam, sentindo com prazer o gosto do perfume de sua mãe. - Ou uma ressecção nasal, você está ficando com o nariz meio mole... -Meti a língua em sua narina, que cheirava a lavanda velha, até ela começar a espirrar e rir. - Ou, quem sabe, poderíamos fazer uma mamoplastia de ampliação, que na verdade não é necessária em seu caso...-Corri os lábios desde a cavidade almiscarada e doce de sua axila até o seio cheio, com seu bico grosso. As veias corriam por baixo da pele branca, áspides aguardando o momento de picar uma princesa. Senti o gosto da pele de seus seios, correndo a língua pela areola. Desci para seu abdome. - Seu umbigo tem cheiro de ostras...
- Espere um pouco. Você ainda não dissecou o abdome.
- O único instrumento de que preciso aqui é uma fatia de limão.
- Bem que minha mãe sempre me avisou a respeito de médicos sem qualificação...
Abracei-a, apertando os lábios contra o bico de seu seio. As únicas mulheres com quem eu fizera amor, além das amigas chinesas de David Hunter em Xangai, haviam sido uma senhora de meia-idade e sua filha, que dirigiam o hotelzinho na zona oeste de Londres em que eu me hospedara durante o regresso de minha mãe ao Extremo Oriente, e uma prostituta de Cambridge, que achou que eu fosse um militar americano que me fazia passar por estudante, o que, aliás, não deixava de ser uma idéia esperta. Com Miriam, pela primeira vez o sexo trazia consigo uma sensação do futuro. Eu esperava que fizéssemos amor muitas outras vezes, e desejava que uma reserva ilimitada de afeição estivesse à nossa espera em algum depósito seguro do coração.
Os dedos de Miriam estavam atravessando meu peito, secionando meu esterno como se fossem uma tesoura. Ela correu dois dedos para baixo, até o estômago, evitando o umbigo com uma elegante guinada, e com um grito agarrou meus testículos como se fosse uma lagosta. Rindo, levantei-lhe a coxa e a atravessei sobre meu quadril. Miriam se sentou sobre mim e apoiou a vulva contra meu pênis, segurando a glande entre os grandes lábios, para me excitar. Penetrei em sua vagina, sentindo tamanha necessidade dela que com alegria a teria dissecado. Imaginei um estranho ato de amor entre um cirurgião obcecado e uma mulher viva, numa deserta sala de operações numa daquelas terríveis clínicas nos subúrbios de Cambridge. Eu lhe beijaria o revestimento dos pulmões, correria a língua por seus brônquios, apertaria o rosto de encontro às membranas úmidas de seu coração, a latejarem junto de meus lábios...
- Jim... - Miriam fez uma pausa, com o indicador em meu nariz. - Em que você está pensando?
- Provavelmente é ilegal.
- Bem, pare...
Segurei-a com força, esquecido da sala de dissecção e seus cadáveres, dos bombardeiros nucleares e dos brejos em novembro.
Logo depois, Miriam voltou para seus amigos de Trinity e para seu trabalho com Richard Sutherland. Minhas visitas obsessivas às bases americanas a inquietavam, e ela sabia que eu ainda estava preso a um passado do qual pouco fazia força para me libertar. Percebia, além disso, que eu estava sob o domínio de uma mulher cujo corpo eu conhecia ainda mais intimamente que o dela. Preocupada comigo, tentava fazer com que eu falasse de Xangai e da guerra, e chegou a pedir a outro estudante de medicina que a levasse, escondido, à sala de dissecção, disposta a confrontar-se com a rival. Mas eu gostava demais de Miriam para correr o risco de expô-la ao passado.
Assim, com seu jeito sensato e carinhoso, deu-me um beijo junto do aparador da lareira, virou formalmente minhas pinturas surrealistas para a parede e com um aceno cordial fechou a porta do apartamento às suas costas.
Fiquei triste por vê-la ir embora, mas ela estava certa ao pensar que um estranho duelo estava ocorrendo entre mim e a médica morta que começara a dominar minhas horas de vigília em Cambridge. Através dos olhos leitosos daquela mulher silenciosa, eu sentia que estava mais uma vez de volta à Xangai que havia deixado para trás, mas que ainda carregava comigo como um sonho persistente que me agarrava pelos ombros. Dentro de minha cabeça pendiam as fachadas do Bund e da rua Nanquim. Olhando pelas janelas da Biblioteca de Anatomia para a planície de Cambridgeshire, com suas bases americanas e sua rutilante visão de uma terceira guerra mundial, eu via os arrozais abandonados perto de Lunghua. Os trilhos que me levavam de volta a Cambridge depois de minhas visitas de fim de semana a Londres pareciam conduzir à pequena estação rural onde os quatro soldados japoneses ainda me aguardavam.
Sem nada me falar, a médica, em sua mesa de vidro, havia-se identificado com todas as vítimas da guerra na China e com o jovem funcionário chinês que eu vira ser assassinado de encontro ao poste telefônico. Dissecando-a, explorando-lhe o corpo de dentro para fora, eu sentia que estava me aproximando de alguma verdade pervertida sobre a qual eu nunca conseguira conversar com ninguém desde o dia em que partira de Xangai no Arrawa. Os porões de carne refrigerados do navio tinham transportado para a Inglaterra, de volta, uma carga secreta. Eu tinha saído de Xangai cedo demais, levando nas mãos um punhado de problemas que a Inglaterra do pós-guerra estava exausta e distraída demais para me ajudar a resolver.
Os ingleses tinham conhecido sua própria guerra, um conflito com claros objetivos militares e políticos, muito diferente da guerra na China. Haviam enfrentado suas lembranças tristes e sua queda de prestígio do mesmo modo que os adultos no campo de Lunghua. Sobre os escombros das ruas bombardeadas e das perdidas esperanças de um mundo melhor, haviam acumulado uma mitologia de palavras de ordem, um desfile de bandeiras patrióticas que fechavam o passado para todo o sempre, ocultando-o a qualquer olho inquisidor.
Até mesmo os ex-militares que eu encontrava em bares londrinos, homens que haviam passado por combates reais durante os anos em que tinham servido nas forças britânicas, pareciam ter tomado parte numa guerra diferente, num desfile sangrento que não era muito diferente dos Espetáculos Militares que - coisa fantástica! - um ou dois deles tinha ajudado a montar em Xangai. No entanto, a guerra, que transformara tantos deles em viúvos ou aleijados, não lhes atingira a imaginação. Em Xangai, desde 1937 até o lançamento da bomba atômica, não tínhamos sido nem combatentes nem vítimas, mas espectadores arrastados a pulso para assistir a uma execução. Quem se aproximara demais fora atingido pelo sangue, que espirrava das armas.
Eu tentava fechar os olhos, cochilando nos apartamentos exíguos das monitoras de fisiologia beberronas, mas o passado persistia. Cada vez mais, os cadáveres da sala de dissecção me recordavam os membros decepados que eu vira na avenida Eduardo VII.
Na última quinta-feira de novembro, fui até o aeroporto de Cambridge. Eu sabia que Miriam freqüentemente matava a aula de educação física da tarde e fugia para ver Richard Sutherland praticar acrobacias em seu Tiger Moth. Como adivinhara, quando cheguei ela estava esperando no Chevrolet, com o poderoso aquecedor do carro ligado. Alegre, chamou-me com um aceno e abriu a porta do lado do passageiro. Contente por estar com ela outra vez, sentei-me a seu lado e fiquei a ouvir o zumbido dos motores dos aviões.
À vontade em seu desmazelado uniforme de escola, Miriam segurou minhas mãos frias. Seus seios estremeceram quando o antigo biplano sobrevoou a área de estacionamento, atirando borrifos no pára-brisa do Chevrolet.
- Como vão as coisas na sala de dissecção? - perguntou ela. - Os mortos devem ter mandado notícias.
- Ainda estou trabalhando no braço... Eu gostaria de me afastar daquele lugar, mas ele tem uma espécie de fascínio...
- Jim, já pensou em desistir da medicina?
- Ainda não. Este é meu primeiro período. Espere até eu ter terminado a cabeça e o pescoço.
- Talvez seja tarde demais. Procure seu monitor, diga que quer estudar inglês.
- Depois de medicina? Para que tanto trabalho? A Anatomia de Gray é um romance muito melhor do que Ulisses.
- Isto está fazendo você ficar pior, não melhor. Cortar todos aqueles corpos... Você se lembra da guerra.
- Miriam... - Apertei-lhe os ombros, para tranqüilizá-la. - Os cadáveres de verdade não se parecem com os de salas de dissecção. Eles são parecidos com os vivos... Isso é o mais estranho.
- Eu gostaria de ajudar, Jim. Mas não posso fazer nada.
- Talvez não. - Vi Richard descer do Tiger Moth e caminhar para nós com seu macacão amarelo. - Vou entrar para a escola de pilotagem.
- Ótimo... Depois você pode me ensinar. Preciso voar!
Ela me deu um beijo e desceu do carro, segurando o capacete de Richard, enquanto eu montava na Triumph. Formávamos um trio curioso, o aviador, a colegial e o estudante de medicina. Richard me olhou com seu sorriso cordial de ator. Pensando nas calcinhas americanas de Miriam, fiquei a imaginar se aquela mocinha marota teria sido um presente dele para mim, parte de uma outra experiência. Richard ficava sempre satisfeito ao me ver e fazia perguntas sobre a guerra, com naturalidade mas de um jeito meio ansioso, como se eu fosse um espécime de laboratório exposto a um número excessivo de imagens de violência. Às vezes, em seu escritório, enquanto eu esperava que Miriam acabasse seu trabalho de datilografia, ele ficava a me observar enquanto eu folheava a Life, que trazia muitas fotos vividas da guerra da Coréia. Apesar de tudo isso, eu gostava dele por sua energia, seu espírito aberto, por Miriam e por seu carro americano. Ele e a irmã tinham sido levados para a Austrália antes dos ataques a Londres, e Richard se libertara dos subúrbios de Sydney, um homem sem passado e que só tinha o presente.
- Jim... Miriam me disse que você quer entrar para a escola de pilotagem. Venha fazer um vôo comigo na semana que vem. Você poderá tentar algumas figuras.
- Obrigado, Richard. Confia em mim a ponto de me entregar os controles?
- Claro que sim. - Certa vez ele se irritara quando Miriam e eu, na Triumph, o havíamos ultrapassado enquanto ele voava seguindo a estrada de Newmarket. - A propósito, já foi a Lakenheath? Lá onde fica a grande base americana?
- Algumas vezes.
- Ele vai lá todo fim de semana. - Miriam tomou-me o braço, apertando o rosto contra meu blusão de couro, como se tentasse avaliar o vento em suas costuras machucadas.-Jim será o primeiro a saber quando a guerra começar.
- De maneira alguma. Eu sempre soube que ela vai começar, um dia ou outro. Jim, há um jeito de visitar a base. É parte de um projeto comunitário anglo-americano, para que a gente não se sinta de fora quando chegar o apocalipse. Vamos lá... Talvez possamos dar uma olhada num bombardeiro nuclear.
- Nessa eu passo, Richard. - Achei que estava sendo atraído para outra experiência, e me lembrei da expressão “psicopatia imposta”, que ele empregara na aula a que eu assistira. Ele havia ficado a caminhar de um lado para outro, sobre o estrado, como um ator proferindo o solilóquio de Hamlet, sem dar atenção aos vinte estudantes sentados nas primeiras filas do auditório e dirigindo-se exclusivamente a mim, que estava sentado numa fileira bem alta, sob as lâmpadas do ventilador, fumando ostensivamente debaixo do aviso de “não fumar”. No entanto, ele já estava pensando em muito além das cadeiras vazias, numa platéia bem maior, que vislumbrara do ar.
Ficou a me olhar, enquanto eu dava partida no pesado motor da Triumph. Miriam acenou para mim quando passei entre os aviões estacionados.
- Vejo você hoje à noite, Jim! Podemos ir ao cinema. E fique longe daquela mulher!
Entretanto, foi aquela médica morta que me libertou. À medida que avançavam as semanas de dissecção, as duplas de estudantes cortaram os músculos superficiais de seus cadáveres e atingiram os ossos. Por conveniência, cada cadáver foi então dividido em suas partes constitutivas. O dentista nigeriano e eu desmembramos o braço do tórax, e o guardamos num dos armários de madeira na sala de dissecção.
Ao chegar à sala certa manhã, fiquei surpreso ao verificar que a mulher estava sem a cabeça. Procurei nas mesas, e por fim achei-a no fundo de um dos armários. Estava ali entre uma dúzia de outras cabeças, e nas orelhas tinham sido costuradas as etiquetas com os nomes dos estudantes. Os estágios avançados de dissecção haviam soltado a pele do rosto e abas dos músculos faciais, de modo que cada camada muscular podia ser virada como uma página de livro. Segurei a cabeça nas mãos, fitando os olhos ainda presos à órbita dissecada. Alguém se encostou em meu braço, e o livro de seu rosto se abriu, revelando-lhe os ossos famintos e os dentes chanfrados, que me aconselhavam a ir embora.
O médico que demonstrava o sistema urogenital feminino pediu aos estudantes de nossa mesa que desmembrassem o braço restante e as pernas, e pouco depois só restavam o tórax e o abdome. O útero, as trompas de Falópio e a bacia pélvica ficaram expostos como um palco em miniatura, uma alcova emoldurada pelas cortinas dos músculos abdominais. Os vasos sangüíneos e o tecido nervoso, desnecessários, foram afastados e jogados num balde de detritos. Uni a omoplata com os ossos do braço, e escrevi meu nome na etiqueta de identificação. Ergui à luz sua mão dissecada, cujos nervos e tendões eu cortara. As camadas de pele e músculos assemelhavam-se às cartas de um baralho que ela esperava para me passar do outro lado da mesa.
No último dia do período, ela sumiu. As mesas estavam limpas, e os assistentes esfregavam os tampos de vidro. Quando voltássemos, depois do Natal, novos cadáveres estariam à espera sob o teto iluminado, e começaríamos a dissecção de uma segunda parte do corpo.
Procurando um bisturi que eu não sabia onde deixara, entrei na sala de preparação, onde o assistente-chefe estava ligando os ossos de cada cadáver. Mais tarde, o que restava de cada corpo seria cremado ou sepultado. Pouco mais do que pilhas de cartilagem e juntas jaziam sobre as mesas como as sobras de assados de domingo.
Examinei as mesas e reconheci a mão que me era familiar, presa com um fio forte às costelas e aos ossos do quadril. Tudo isso formava um pacote que caberia facilmente numa maleta. Li o nome na etiqueta: Dra. Elizabeth Grant. Aquela médica morta não só oferecera o corpo à dissecção, como se reduzira a um montinho de espeques gordurosos, como que a dissolver, deliberadamente, todo e qualquer poder que exercesse sobre mim.
Joguei o jaleco na cesta da lavanderia, esvaziei meu armário no vestiário e saí em busca de Miriam. Se eu precisava conquistá-la, por meio de adulação, à Richard Sutherland, compraria um carro americano, viraria aviador e assumiria para ela o papel de Lindbergh, pronto a cruzar o Atlântico com apenas um pacote de sanduíches e minha própria vontade.
Como acontecia todas as manhãs, o estrondo de outros motores me fez sentir na alma a corrente de ar lançada pela hélice, antes mesmo que eu tirasse o Harvard do pátio de manobra. A neve cobria o aeródromo de Moose Jaw, pendendo, como roupa num varal, das birutas e das grades sobre as luzes de sinalização. Mas o céu tinha um azul cristalino de verão, com cirros gelados e altíssimos, as condições meteorológicas com as quais nós, pilotos em treinamento, havíamos sonhado enquanto líamos revistas desbeiçadas na sala de vôo.
Durante quatro dias, os nevoeiros de Saskatchewan haviam impedido todos os vôos na base de treinamento da OTAN, mas agora todos os Harvards utilizáveis se achavam no pátio. As turmas de terra iam de um aparelho a outro em seus carrinhos elétricos. As lâmpadas de sinalização piscavam na torre de controle, numa febre verde, e os primeiros aviões taxiaram em direção à pista. À medida que cada motor pegava, acelerando e tossindo, outra camada de som engrossava o ar, o rugido cavo de escapamentos e entradas de ar. As janelas do refeitório dos oficiais e do quartel dos cadetes estremeciam com o ruído do aço das helices a cortar o vento.
Uma turma de terra parou o carrinho elétrico sob minha asa de boreste. Protegidos, como exploradores árticos, com macacões impermeáveis, óculos e orelheiras, ligaram um cabo ao motor de arranque.
Completei a checagem de decolagem, fiz um sinal da nacele e apertei o desgastado anel metálico do botão de ignição.
O pesado motor fungou e se agitou, com os cilindros pigarreando, e a hélice atirou um pedaço de gelo molhado contra o pára-brisa. As lâminas começaram a dar saltos desajeitados. Abri um pouco mais a manete de gasolina, aumentando o fluxo de combustível para os carburadores, e senti o cinto de segurança me prender no assento quando os cilindros passaram a funcionar todos juntos. A rajada de ar lançada pela hélice limpou todo o gelo do pára-brisa e agitou as asas e o estabilizador, pintados de amarelo, empurrando o manche contra meus joelhos. Uma retumbância de órgão tomou conta do avião e precipitou-se pelos desertos gelados de Saskatchewan, expulsando tudo o mais de minha mente. Enquanto esperava pelo carrinho elétrico, eu estivera pensando nas cartas de Miriam, que demoravam a chegar, na briga de bêbados no começo da semana no Iroquois Hotel, nas horas de castigo, limpando aviões no hangar, e nos cinqüenta dólares que eu devia a David Hunter por ter estragado a segunda marcha de seu Oldsmobile. Mas tudo isso foi esquecido quando o motor ganhou vida e o Harvard passou a fazer força contra os pedais de freio.
À minha esquerda, o capitão Hamid, do exército turco, começou a deixar o pátio. Fez uma careta ao sentir o cheiro em sua máscara aberta, lembrando-se dos inqualificáveis presuntos com ovos no refeitório. Conduzia seu Harvard com mão pesada, forçando o avião para a esquerda e a direita como se fosse um cavalo teimoso num desfile. Mas a mim, pouco se me dava a comida da base ou a monotonia dos trigais de inverno. Atrás de mim, um francês apressado me fazia sinais, sacudindo as mãos enluvadas atrás do pára-brisa. Os Harvards estavam decolando e descrevendo círculos para a direita sobre o aeródromo. Eram pilotos em vôo solo e alunos acompanhados de instrutores no assento de trás, o jovem braço aéreo da OTAN a se preparar para o espaço ainda mais gelado e mais congestionado sobre a planície do norte da Alemanha. Poucas horas após eu ter feito meu primeiro vôo solo, decidira transferir-me para o Comando de Bombardeiros assim que completasse o treinamento em jatos. Via-me nos controles, não daquele obsoleto aparelho de treinamento da Segunda Guerra Mundial, mas de um Vulcan nuclear, de asa em delta, a lançar-se sobre as florestas pantanosas da Bielorrússia, armado com fragmentos do sol...
- Força Aérea dois-nove-nove-um... - Um controlador de vôo canadense encostou-se na janela da torre, a observar-me por um binóculo.
Atrás de mim, uma fila de Harvards esperava sua vez de alcançar a pista, com os motores apontados para minha nuca.
- Torre de Moose Jaw, aqui é Força Aérea... - Uma saraivada de guinchos me interrompeu. Por mais clareza com que eu falasse, tentando disfarçar meu sotaque inglês e me expressar como um canadense, os controladores de vôo da Real Força Aérea Canadense deliberadamente truncavam ao máximo suas comunicações pelo rádio, expressando toda a sua irritação com o programa de treinamento da OTAN. Apesar das muitas horas gastas em aulas de inglês, os pilotos franceses, noruegueses e turcos não faziam praticamente idéia alguma do que seus instrutores lhes diziam. A Terceira Guerra Mundial poderia estourar e acabar antes que decifrássemos a babel dos céus canadenses.
Alinhado na cabeceira da pista, esperei o último sinal da torre e levei o manete de combustível ao máximo. Liberado dos freios, o Harvard lançou-se adiante como um rinoceronte míope, procurando cada fissura no concreto desgastado. Em aceleração máxima, o motor parecia querer livrar-se da fuselagem, e esperei que o velho aparelho se desintegrasse no final da pista. Entretanto, aquele Harvard treinara gerações de aviadores americanos. Empurrei o manche para a frente, a fim de erguer a cauda do chão. Quando a velocidade chegou a 130 km, puxei o manche para trás e o avião levantou-se mansamente no ar, as asas largas arrostando as térmicas que se elevavam das pistas aquecidas. Subi a 300 m, corrigi os lemes de profundidade e ajustei o motor para velocidade de cruzeiro. As lavouras de inverno do sul de Saskatchewan, seus lagos congelados e as estradas vazias estendiam-se até onde a vista alcançava. Além de Saskatoon, os imensos ermos do Canadá setentrional espraiavam-se até a borda do planeta, tocados apenas pela aurora boreal e pelas trilhas de condensação de jatos militares, que roçavam os limites superiores da atmosfera. Aqui, os poderosos radares da cadeia da Norad e do sistema de defesa russo rugiam uns para os outros como leões presos ao gelo.
Soltando o cinto de segurança, fiquei a ouvir o zumbido constante do motor e a observar a paisagem branca modificar-se lá embaixo. Oficialmente, eu deveria treinar estóis e parafusos, e fazer um vôo cego até Swift Current, antes de voltar a Moose Jaw, mas, como a maioria dos treinandos, não tinha a menor intenção de seguir as instruções. A noitada no Iroquois me deixara com uma ressaca homérica e uma mordida infeccionada no ombro. Minha situação só pioraria se eu ficasse a sacolejar a milhares de metros de altura num céu ofuscante. Como sempre, eu subia ao céu para me acalmar, pensar em Miriam, descansar e sonhar.
A aviação, que fora minha obsessão desde os anos de guerra em Xangai, havia-me levado àquela cidade remota no oeste canadense. Eu largara Cambridge depois de dois anos, completamente curado de qualquer veleidade de ser médico. Apesar do laboratório de Cavendish, a universidade estava excluída do mundo mais urgente dos bombardeiros nucleares americanos, que decolavam dos aeródromos de Cambridgeshire, aprestando-se para a última das guerras globais. A ponte aérea de Berlim, a guerra da Coréia, o rearmamento da Europa - tudo isso pertencia a uma ordem de coisas que eu vira nascer nos arrozais do estuário do Yangtsé. A Dra. Elizabeth Grant me libertara de meus sonhos com os mortos, porém um exército muito maior de defuntos estava se preparando para a sala planetária de dissecção.
Eu ia com Miriam, compulsivamente, aos cinemas de Cambridge, onde via cinejornais, que mostravam testes de bombas de hidrogênio. Aquelas gigantescas explosões em Eniwetok me abalavam e extasiavam, e muitas vezes eu tinha de firmar as mãos trêmulas para não assustar Miriam. As misteriosas nuvens em forma de cogumelo sobre os atóis do Pacífico, de onde os B-29s tinham transportado a Nagasaki o segundo dia do apocalipse, constituíam um poderoso incitamento à imaginação psicótica, e tudo sancionavam. Fantasias de guerra nuclear amalgamavam-se para sempre com minhas recordações de Xangai, lembrando-me a poeira branca na avenida Eduardo VII, por onde eu caminhara como uma criança que recebe, sem querer, uma antevisão do futuro.
Trabalhando como redator para uma agência de publicidade em Londres, eu pensava continuamente nos pioneiros da aviação - em Lilienthal e nos irmãos Wright, em Lindbergh e até no pequeno Mignet, que terminou seus dias na miséria, dormindo em hangares abandonados, debaixo das asas de seu amado Flying Flea. Em meu espírito, todas as fantasias e os mitos ascensionistas da aviação estavam ligados a armas de destruição e às possibilidades maiores que jaziam além delas.
Numa reunião de ex-residentes de Xangai, no Regent Palace Hotel, vi David Hunter pela primeira vez desde nossa chegada a Southampton em 1946. Apesar dos sete anos passados, ele quase nada mudara. Os olhos meio escondidos sob a franja clara continuavam a vigiar as portas e janelas como se ele tivesse acabado de fugir de um estabelecimento penal. Depois de alguns anos trabalhando para o pai, um agente de importação e exportação na City, ele tinha sido instrutor de tênis, estudante de teatro e até, por pouco tempo, noviço jesuíta. Começamos a nos encontrar para almoçar, atraídos um para o outro por aquela sensação de um passado não resolvido que tínhamos compartilhado. Ele estava quase sempre bêbado, mas ao mesmo tempo pedantemente sóbrio; incapaz de impor um sentido à sua própria vida, mas convicto do rumo apropriado para a minha. Quando o gim lhe avermelhava o rosto, as equimoses transpareciam em sua pele.
- A psiquiatria não lhe convinha, Jim-disse-me ele com franqueza, descartando com um gesto toda uma carreira. - Você teria passado todo o tempo analisando a si próprio.
- Por quê? Não sabia que havia alguma coisa a analisar.
- A mim você não engana, meu caro. Seus pacientes nunca iriam além da sala de espera. - David lançou-me o mesmo olhar irritante e convencido com que Richard Sutherland por vezes me observava em seu escritório no Departamento de Psicologia, como se estivesse para decifrar de repente minha personalidade. - Diga uma coisa. Você ainda pensa em Xangai?
- Menos do que antes. Bem que poderíamos esquecê-la... porque Xangai nos esqueceu.
- É inquietante, isso. Uma cidade estranha, mas ela realmente exerce uma espécie de domínio sobre nós. Todos aqueles chineses, coitados... Como era Cambridge?
- Não cheguei a conhecer o lugar muito bem. É uma vitrine acadêmica para universidades americanas, onde podem comprar um professorzinho por alguns dólares. Só turistas ou moças au pair é que se embasbacam com aquilo.
- Fiz um curso numa escola de pilotagem. Por alguma razão, queria trabalhar em pulverização agrícola na Guiana Inglesa. São incríveis as fantasias de uma pessoa. - David balançou a cabeça. - Passeei de chalana no rio com uma moça. Cambridge me pareceu um lugar simpático.
- É lá que ficam as bases nucleares dos americanos. Jatos de última geração esperam nas pistas, carregados com bombas de hidrogênio, enquanto sargentões da intendência andam de um lado para outro nas estradinhas rurais em seus Chryslers, procurando criações de perus.
- Bases nucleares... Imagino que você tenha passado muito tempo perto delas...
- Um pouco. Pelo menos era melhor do que cantar madrigais dia e noite, sem parar, ou fingir ser Rupert Brooke.
- Só num certo sentido. Você deveria ter ido para Yale... ainda que eu até desconfie que lá também cantam madrigais. - David olhou para as mãos, erguendo-as como se tivesse descoberto uma nova arma. - Sabe, devíamos nos alistar na força aérea americana. Você ficaria muito bem num uniforme da US AF, Jim, passeando em Cambridge num Chrysler. Na verdade, é o que você sempre quis fazer. Ia levar para a cama todas as moças que já não foram com caras que usam uniformes da USAR Jim, pense só nisso!
- David, eu estou pensando nisso. É uma excelente idéia... Na verdade, a primeira idéia nova que escuto há anos.
- E não são só as garotas... - David firmou os talheres, olhando as mesas em torno como se quisesse endireitar todos os garfos e facas no restaurante. Sorria para mim com os olhos animados de que eu me lembrava de nossas tardes em Xangai, quando convidava as cautelosas moças chinesas para o apartamento nas Mansões Imperiais que ele alugara a um dentista russo. Como de costume, não tardou muito para que, graças a provocações, ele levasse essas jovens prostitutas a agredi-lo. Para David, sexo era o mais próximo sucedâneo daquela noite aterrorizante na sala da guarda com o sargento Nagata e o Sr. Hyashi.
Uma carreira como piloto militar oferecia um ingresso ainda mais direto ao reino da violência pelo qual ansiávamos. Para nós dois os anos de guerra em Xangai ainda definiam as agendas ocultas de nossa vida. David sonhava com violência, com seu jeito preocupado e pensativo, ao passo que eu estava buscando um meio de recriar a luz perolada que avistara sobre os arrozais de Lunghua, ao lado da estação ferroviária, e que parecia pairar tão promissoramente sobre as bases aéreas americanas perto de Cambridge.
Nas semanas seguintes voltamos a nos encontrar e conversamos sobre as possibilidades de uma carreira na aviação. Meu emprego como redator me aborrecia, e as visitas a Cambridge tinham diminuído, agora que Miriam estava trabalhando em sua tese de história da arte. Continuava a ser a colegial sem juízo de sempre, e se transformara numa das estrelas da vida estudantil, escandalizando os calouros com sua possante motocicleta, participando de uma peça pornográfica de Apollinaire, que os
inspetores haviam prescrito, levando namorados, de noite, para seu quarto em Girton. Sempre se alegrava ao me ver, agarrando-me pelos ombros como se estivesse disposta a se casar comigo naquela mesma tarde. Mas estava esperando que eu chegasse a um acordo com a guerra e encontrasse meu verdadeiro norte.
Tornar-me piloto da força americana de bombardeiros, que se preparava para um ataque nuclear contra a União Soviética, parecia a concretização de todos aqueles sonhos, um desafio tipo tudo-ou-nada que me obrigaria a encarar-me de frente. No entanto, por um capricho sem razão, a embaixada dos Estados Unidos se recusou a nos recomendar para treinamento como pilotos. David ficou atônito com a rejeição, reclamando junto aos oficiais, polidos, mas obstinados, que evidentemente nos viam como loucos varridos e nos recomendaram com insistência que nos alistássemos na RAF.
- Pronto, Jim, nada de Chryslers para você. Vai arranjar no máximo um MG. - David me deu uma pancadinha no ombro, do lado de fora do centro de recrutamento da RAF em Kingsway, depois de nos termos alistado por breve período. - Mas pelo menos você vai conseguir uma cadeira de pista na Terceira Guerra Mundial.
É desnecessário dizer que essa observação arguta resumia minhas verdadeiras razões para me alistar na RAF. Durante nossos três meses de treinamento básico na base Kirton, em Lincolnshire, enquanto aprendíamos os rudimentos de meteorologia, escalávamos paredes de hangares em cursos de comandos e disparávamos submetralhadoras no estande de tiro, nem por uma vez deixei de acreditar que finalmente os elementos reais de minha vida se concatenavam. Eu estava me preparando, da maneira mais prática possível, para a Terceira Guerra Mundial, que já começara em Hiroxima e Nagasaki, e cujas primeiras manobras foram a crise de Berlim e a guerra da Coréia. Em algum ponto sobre os céus da Europa central, o Armagedom de meus sonhos se tornaria realidade.
Sucedeu que nós, os pilotos novatos, fomos mandados não para uma base da linha de frente na Alemanha Ocidental, mas para um dos mais remotos confins do planeta, a base Moose Jaw, da Real Força Aérea Canadense, em Saskatchewan. Como parte do acordo da OTAN, as tripulações dos países membros europeus recebiam treinamento de vôo no Canadá. Atravessamos o oceano no Empress of Britain, um transatlântico da Canadian
Pacific anterior à guerra, sentados sob os tetos barrocos dos vastos salões. Miriam foi de motocicleta até Liverpool para se despedir de mim e ficou estupefata com o esplêndido mobiliário dourado e os solícitos comissários, como se eu estivesse de partida para uma estranha e suntuosa guerra em que todo soldado fosse para a frente de batalha em seu próprio Rolls-Royce. Ao me abraçar no portaló, era evidente que ela imaginava que nunca mais me veria. Fiquei acenando da amurada ainda muito depois de o edifício Liver ter desaparecido no horizonte.
Tendo sobrevivido ao Atlântico, um reino subártico de vagalhões verticais, gelos insanos e vorazes peixes voadores, desembarcamos em Montreal e começamos um agradável período de um mês de aclimatação na base aérea de Toronto. Ali fomos preparados para os riscos sociais e psicológicos de uma vida de waffles e peru, que David e eu abraçamos com todo prazer. Nem mesmo as intermináveis horas de propaganda e de filmes sobre doenças venéreas - que transmitiam a mensagem de que toda a metade feminina da raça humana só pensava em nos infectar - conseguiam arrefecer nossa satisfação por estarmos na América do Norte.
Por fim, depois de uma viagem de trem que levou quatro dias, chegamos a Moose Jaw, Saskatchewan. Descemos do trem com nossas malas e fitamos a cidadezinha da pradaria. Éramos um grupo heterogêneo de turcos desconfiados, noruegueses estóicos, ingleses de ressaca e franceses impacientes.
- Gostaria que Miriam visse isso. - Lancei os olhos à imensidão da planície de Saskatchewan. - Onde isso termina? Estamos no planeta errado.
- Se visitantes do espaço algum dia desembarcarem na Terra, vão escolher este lugar - observou David, soturno. - Em Moose Jaw, Saskatchewan, eles se lembrarão de casa.
Entretanto, Moose Jaw era mais interessante do que imaginamos à primeira vista. Abaixo do paralelo 49 ficavam as grandes cidades do Meio-Oeste americano. Os Estados Unidos dos anos Eisenhower, que se rearmavam, desfrutavam de uma prosperidade e de uma confiança desconhecidas na Europa. Frotas de veículos barrocos disparavam por suas estradas, como se uma raça de visitantes interplanetários estivesse desembarcando numa visita de turismo. No segundo dia David comprou um Oldsmobile usado e começamos a fazer longos passeios em qualquer direção. Os canadenses eram um povo do deserto, hospitaleiro e tolerante, que vivia na orla de um ermo de neves e geleiras. Winnipeg, Regina e
Saskatoon eram cidades do deserto do norte, as Samarkands do gelo. Ao final de toda rua havia horizontes brancos de nada. Minha mente saltava, expandindo-se para preencher o vácuo...
Uma sombra perpassou pelo Harvard, escurecendo-lhe as asas. Despertei do devaneio ao ouvir um estrondo de motor que sacudiu a nacele. Um piloto do grupo francês passou por mim em mergulho, tão perto que o deslocamento de ar quase lançou o Harvard num estol em alta velocidade. Prendi o cinto, apaguei o charuto que estava fumando e já me preparava para um combate quando um segundo francês mergulhou ao lado de minha asa de boreste, voltando a subir numa íngreme meia-espiral que o colocaria bem em minha cauda. Os dois aviões se haviam insinuado atrás de mim enquanto eu sobrevoava as extensões nevadas de Deer Lake, ouvindo um programa de música country transmitido pela rádio de Medicine Hat.
Durante os cinco minutos seguintes, arrastamos os velhos aparelhos de treinamento pelo céu num simulacro de combate, e só nos separamos quando um Harvard de controle duplo, com um instrutor canadense no assento traseiro, precipitou-se em nossa direção, vindo do sul. Deer Lake estava fora do território de treinamento, ao passo que combates simulados e vôos rasantes não autorizados constituíam transgressões passíveis de corte marcial. Os criadores de mink de Saskatchewan, que tinham influentes ligações políticas, eram nossos inimigos jurados, e suas fazendas estavam marcadas em nossos mapas como se fossem fábricas alemãs de rolamentos de esferas na Segunda Guerra Mundial. Gostávamos de sobrevoar suas fazendas, tão baixo que os irados fazendeiros não conseguiam fotografar nossos números de identificação e roncando tanto os motores que, alucinados, os animais soltavam-se de suas jaulas e dispersavam-se para a segurança das neves.
Embora ilícitas, essas brincadeiras aéreas nos ajudavam a manter o equilíbrio mental. Os franceses dispararam para sudoeste, rumando para Medicine Hat, e o instrutor canadense precipitou-se para cima de mim. Tomei como certo que ele estava gritando comigo pelo rádio, mas meus tanques tinham 225 1 a menos e logo eu me livrei dele. Aos poucos, ele foi ficando para trás, e depois desistiu e voltou para Moose Jaw.
Perscrutando a imensidão nevada, procurei uma estrada de ferro ou uma rodovia pela qual eu me localizasse. Eu estava a cerca de 105 km a noroeste de Moose Jaw, sobre uma região incaracterística de lagos cobertos de neve. Sob o sol causticante, a neve começara a derreter, e as manchas mais escuras de água lembravam taças de sorvete negro. A um quilômetro e meio à direita, um silo de cereais erguia-se da planície branca como uma escultura de prata, erigida ao lado do talude de uma linha férrea. Fiz uma curva em sua direção, com um olho no marcador de combustível, acompanhando a sombra do Harvard sobre um curioso lago em forma de tartaruga. Num de seus braços vi uma estrutura submersa, que se assemelhava a uma cabana de telhado plano e amarelo.
Ou seria um Harvard de cabeça para baixo, sob cinco metros de água? Como meu pouco combustível não me permitia descrever outra volta sobre o lago, segui o ramal ferroviário na direção de Swift Current e fixei o rumo na direção de Moose Jaw. Mas, enquanto adulterava a carta de navegação sobre o joelho, pensava no capitão Artvin, um piloto turco que desaparecera dois meses depois de nossa chegada.
De todos os cadetes da OTAN, os turcos eram os mais infelizes. Mais velhos e mais graduados do que os jovens instrutores canadenses, não conheciam mais que umas poucas palavras de inglês. Juntando o soldo, compraram um Ford de segunda mão em Moose Jaw e só então descobriram que não havia lugar algum aonde pudessem ir. Sentavam-se em silêncio em torno das mesas do refeitório, com seus uniformes verdes, ao estilo americano, barras douradas fulgindo nos ombros, enquanto as nevascas caíam horizontalmente lá fora. Quando a neve parava de cair, fitavam os céus aquosos e o tríplice sol, como se essas ilusões de ótica produzidas pelas imensas névoas de cristais de gelo fossem um sinal para algum ato desesperado.
Incapaz, talvez, de lidar com esse mundo ártico de neve e miragens, o capitão Artvin desaparecera num vôo de treinamento. Todos os instrutores canadenses decolaram e vasculharam a paisagem invemal, num raio de 150 quilômetros. Os colegas turcos de Artvin recusaram-se a ajudar na investigação, mas nenhum demonstrou a menor surpresa. Curiosamente, Artvin levara consigo todos os seus pertences, os uniformes extras, o barbeador elétrico recém-adquirido, o rádio americano. Todos imaginaram que Artvin havia desertado para os russos, mas eu estava convencido de que ele simplesmente se cansara de Moose Jaw e resolvera voar para casa.
No entanto, o Harvard do capitão jamais fora encontrado. Teria ele conseguido pousar em campos de pouso isolados de Alberta ou dos territórios do Noroeste, reabastecido o aparelho com a ajuda de simpatizantes soviéticos e dado um jeito de atravessar o Alasca, chegando ao estreito de Bering? Isso parecia improvável, e eu preferia imaginar que o capitão Artvin rumara para leste, sem pensar em marcadores de combustível e continuado a voar sempre e sempre, penetrando em seu próprio sonho.
- Artvin? Coitado, se deu mal-comentou David, quando lhe falei do que tinha visto. A cabana submersa, de telhado amarelo, decerto se assemelhava a um Harvard. - Vai notificar?
- Naturalmente! “Desculpe, Capitão de Grupo, por acaso eu estava sobre Deer Lake, todos esses raios de lagos canadenses parecem iguais, o senhor sabe como é...”
- Eos turcos?
Estávamos tirando a roupa de vôo, e David me passou a garrafa de uísque de milho que ele mantinha em seu armário de pára-quedas. Vi o capitão Hamid guardando as botas, o macacão e o capacete do mesmo modo cuidadoso como eu imaginava que Artvin arrumara o rádio e o barbeador elétrico. Aqueles homens supercontrolados lembravam-me os japoneses, que pairavam eternamente na beira de uma crise mental. Os dinamarqueses e noruegueses eram fleumáticos, os ingleses encharcados de álcool, tanto no ar como em terra. Já os franceses viviam encenando motins, recusando-se a obedecer a seus superiores, até que o adido militar francês veio de Ottawa e negociou alguma concessão que os acalmou por algum tempo. A comida norte-americana, os waffles, as coxas de peru e os jarros de leite representavam um constante desafio cultural.
Mas eram aqueles turcos melancólicos que enlouqueceriam um dia. Vendo-os no anfiteatro de meteorologia durante nossas aulas de política internacional, assistindo aos cinejornais de propaganda e aos filmes sobre doenças venéreas, que ensinavam a ensaboar e lavar os órgãos genitais depois do coito, eu esperava que os turcos se apoderassem de todas as armas no arsenal e procedessem a uma mortandade completa no mundo anglófono.
- Contar aos turcos? - Refleti. - Talvez isso não seja bom para os nervos. Não quero acordar e achar meus testículos em minha boca.
- Que bom que você tem testículos, meu caro. Hoje é sexta-feira, e estamos indo para o Iroquois. - David tomou um gole de sua garrafa, sem se dar ao trabalho de escondê-la de um instrutor canadense que passava. - Que azar o desse Artvin. Então, ele não chegou mesmo até a Mamãe Rússia.
- Não creio que ele estivesse tentando. Ele não desertou para os soviéticos.
- Então, o que estava fazendo?
- Estava indo para casa. Ele se encheu disso aqui.
- Bem, não foi muito longe.
- O suficiente.
- Jim?-David estava quase me passando a garrafa, mas a tampou com a rolha. - O que quis dizer com isso? Estou vendo aquela expressão de Lunghua em seus olhos.
- Não existe nenhuma expressão de Lunghua.
- Artvin está sentado de cabeça para baixo debaixo de cinco metros de água gelada. Isso não é o mesmo que voltar para casa.
- É uma figura de linguagem... as pessoas criam suas próprias mitologias.
- Você devia ter cantado mais madrigais. Não tem importância, esta noite vamos ao Iroquois.-David se apoiou em mim. Inteiramente sóbrio durante um instante fugaz, disse: - Quando você estiver trepando com Yvette e Brigid, prometa-me que vai pensar em Miriam...
Quatro horas depois, eu estava deitado numa cama no Iroquois Hotel, agarrando-me à cama de vime. O quarto girava a meu redor como um lento giroscópio. Fora do quarto, um carrossel maior girava no sentido horário, transportando o vetusto hotel e seus tetos malcuidados, o barulho do bar lá embaixo, as ruas de Moose Jaw com seus postos de gasolina e suas lojas de ferragens, e mais além os campos cobertos de neve e os velhos bisontes que dormitavam ao lado do ribeirão da estrada de ferro com seus casacos de lama. Por algum motivo eu me encontrava no centro desse sistema rotatório, que começara a se inclinar, como que a preparar-se para um mergulho vertical. Eu estava pilotando o mundo...
- Jim, ainda está conosco?-David me chamava através do clarão do abajur de cabeceira. - Ah, meu Deus! Não olhem para ele...
Eu estava tentando abrir o travesseiro, precisando desesperadamente de vomitar. Minhas calças estavam no chão, ao lado da cama. Atordoado demais para pensar, vomitei dentro delas. Lágrimas escorreram de meus olhos e do nariz, e tiras de peru e restos de uísque raiados de sangue escorreram por elas como um haggis [1] azedo.
- Meu Deus, que espetáculo! - exclamou David, em algum ponto atrás de mim. - Desculpe, moças, mas não existe espetáculo mais deprimente do que um oficial britânico sem as calças. Foram homens como ele que nos cobriram de vergonha em Cingapura. Não é de admirar que os japoneses lhes tenham dado tapas na cara...
Deixei as calças caírem no velho carpete roxo e me recostei na cabeceira acolchoada, manchada pelo óleo do cabelo de mil caixeiros-viajantes anônimos. O quarto se firmara, e eu podia ver David nu, deitado na cama ao lado, rindo com seu jeito feliz mas meio louco para as duas moças que estavam ajoelhadas em cima dele. Com voz firme de barítono, ele cantava:
“A mistura estava rica, mas o motor paradão E era forte a pressão naquela tubulação...”
Uma das mulheres era uma loura de ombros fortes, que só usava sobre o corpo as meias de seda, baixadas até os tornozelos. A outra, ajoelhada com as sujas solas dos pés viradas para mim, usava uma anágua preta em torno da cintura. Cobria-lhe parcialmente as nádegas, que David abria com a mão esquerda, enquanto acariciava os pêlos escuros e os lábios rosados de sua vulva.
- Ai, ai, Yvette, ai... Cuidado com esses dentes, pelo amor de Deus, isso não é um cachorro-quente. Vou ter que dar uma mijada. Meu Deus, que fedor...
As mulheres não lhe deram atenção e continuaram a se esforçar para manter sua frouxa ereção, e durante todo o tempo não paravam de conversar sobre um salão de beleza que as recusara como clientes. Eu sentia as mordidas em meu pênis, e também a dor no ânus, onde uma unha comprida quase arrancara para fora a membrana mucosa. Lembrei-me vagamente de ter feito sexo com a loura, Yvette, enquanto David fazia uma de suas brincadeiras malucas no banheiro, insistindo com Brigid para que lhe batesse nas nádegas com as solas de seus sapatos de salto alto, enquanto ele largava notas de um dólar na privada.
A noite de sexta-feira no Iroquois estava seguindo seu rumo conhecido. Primeiro havia duas horas de bebedeira forçada no bar, cheio de estagiários da OTAN e ferroviários, quando ficávamos com a camisa empapada da cerveja, que corria em cima do balcão. Depois levávamos Brigid e Yvette para os dois quartos do segundo andar. Como de costume,
meu porre era tal que eu não distinguia o chão das paredes. As superfícies planas, algumas acarpetadas e outras com lâmpadas e interruptores presos a elas, estavam sempre a desabar sobre mim e me bater no rosto.
Por motivos que só para David eram claros, sempre fazíamos sexo no mesmo quarto - ele precisava ver e ser visto. Brigid se escarranchava sobre mim, usando sua curta anágua como se fosse um avental maçônico, conduzindo meu pênis para dentro dela com uma das mãos e espremendo meus testículos com a outra. Por fim, Yvette me fazia gozar, deitada de costas, segurando um seio em minha boca enquanto enfiava o dedo em meu ânus. Por sua vez, David gostava que eu o visse na cama ao lado. Seus olhos ficavam fixos nos meus, de um jeito curiosamente inocente e confiante. Havia marcas vermelhas de sapatos em suas coxas, e Yvette se sentava em cima dele, lambuzando o travesseiro com meu sêmen, que lhe escorria da vulva. As mãos de David massageavam lentamente as estrias da barriga de Yvette. Certa noite ele tirou fotografias, que ninguém em Moose Jaw haveria de revelar. O clarão dos flashes irritou os olhos das mulheres, porém a luz súbita fez com que seus rostos, tão vazios de expressão quando elas faziam sexo, por fim ganhassem vida, e eu vi duas donas de casa da classe operária que haviam abandonado os maridos e que aspiravam à mais burguesa das existências.
- Vocês, da OTAN, realmente precisam encher a cara - opinou Yvette. Fez uma careta enquanto David levava minhas calças para o banheiro. - Como foi que deixaram ele entrar para a força aérea?
- Tudo isso faz parte da conspiração comunista - explicou David. Começou a lavar as calças na pia, afastando os pedaços de peru. - Não ouviu o que disse o senador McCarthy? A OTAN é uma trama para derrubar os Estados Unidos da América. Estamos tão ocupados em brigar uns com os outros que não vamos ter tempo de enfrentar os russovsks.
- Nisso eu acredito. O que não entendo é como vocês acabam conseguindo entrar naqueles aviões.
- Yvette, vou lhe dizer uma coisa. Uns bons tragos tornam aquelas latas velhas aviões de verdade. Nosso Jim aqui está pensando em começar a Terceira Guerra Mundial por sua própria conta.
- Parece que eleja acabou. - Brigid, a de cabelos escuros e anágua preta, sentou-se na cama a meu lado. Suas mãos pequenas, estragadas por detergente, que cheiravam a batom, sêmen e muco retal, correram por minha testa, tentando encontrar sinais de vida. Uma centelha de preocupação perpassou-lhe os olhos, e depois desapareceu na vasta indiferença que a separava de todos os homens. Seu rostinho ossudo tinha uma seriedade de criança. Ajudou-me a chegar ao banheiro e, sem nenhum comentário, observou-me sentar na beirada da privada e lavar o rosto na pia. David torcera minhas calças e as pendurara sobre o aquecedor. Quando acabei, ela se colocou diante do espelho e começou a lavar os seios, tentando tirar com sabonete as marcas deixadas pelos dentes de David.
Levei-a para o quarto vazio e sentei-me numa das camas a seu lado. A música ribombava através da parede, sacudindo a penteadeira vitoriana. Vendo o reflexo de Brigid no espelho alto, percebi que ela estava grávida. Levantei-lhe a anágua e fiquei olhando a curva convexa de seu abdome. Segurei seu seio, como se esperasse sentir o leite juntar-se dentro do pesado globo, e depois toquei-lhe de leve o estômago.
- Ei, você é muito novo para isso. - Afastou-me com a mão. - Meter em mim é uma coisa, mas para tudo mais o sinal é vermelho.
- Não se preocupe.-Não me ocorrera que eram possíveis folguedos sexuais com um nascituro. - Quantos meses, Brigid?
- O médico acha que quatro, mas eu digo que são cinco.
- Muito bem. E o pai? Ele sabe?
- Que pai?-Ela olhou para mim como se eu ainda não conhecesse as realidades da vida. - Ela não tem pai.
- Pode ser um menino.
- É uma menina. - Falou com absoluta certeza, depois deitou-se e ergueu os joelhos para expor a vulva. Ajoelhei-me em sua frente, puxei suas nádegas para cima de minhas coxas e introduzi devagar o membro em sua vagina, abalado pela idéia de estar dividindo aquele espaço privado com seu bebê. Em atenção à criança, esperei que não fosse um menino.
- Não se preocupe. Ela não vai se machucar.
Quem seria o pai-um dos dinamarqueses ou noruegueses, ou algum ferroviário canadense que a esperava no estacionamento de trailers atrás dos elevadores de cereais?
- Alguma vez o capitão Artvin veio aqui?
- Quem?
- Artvin... o piloto turco que desapareceu.
- Todos eles desaparecem, a verdade é essa. Eu fui com alguns desses turcos. Yvette gosta deles, mas eu nunca me acostumei. Como era esse que você pergunta?
- Eu nunca o vi. Um dia ele decolou e sumiu.
- Parece uma boa idéia. Mas bem que ele poderia me convidar para ir com ele. - Brigid segurou meu saco, puxando os testículos. - Vamos lá, neném, um pouquinho mais... Isso, faz mais uma forcinha...
Depois deitei-me a seu lado, observando a curva de sua barriga. Em breve, uma parteira usaria palavras semelhantes com ela. Convencida de que eu não tinha nenhum interesse libidinoso, ela me deixou levantar a anágua e pôs minha mão em sua pele. Fiquei surpreso com o tamanho da criança. De vez em quando, ela estremecia de leve, como se reconhecesse minha mão.
- Você é da Inglaterra? - perguntou Brigid. - Sempre quis ir lá. Talvez conseguisse ver o rei e a rainha.
- O rei morreu. Mas eu os vi... eles foram à minha faculdade.
- Verdade?!
- Claro. Parou uma limusine na frente da escola e quatro pessoas desceram, o rei, a rainha e as princesas. Parecia que era a primeira vez que desembarcavam na Terra.
- Que coisa! E você chegou a falar com eles?
- Quase... - Eu havia feito uma estudantada: tirara a beca acadêmica e com ela cobrira uma poça d'água sob as rodas do Daimler que se aproximava. Ao descrever o incidente, percebi que finalmente impressionara Brigid. Antes, quando a penetrei, ela tinha me visto como alguém que trabalhava para ela, que fazia sua parte para ajudar o nascituro, mas agora eu representava mais do que os vinte dólares canadenses.
No quarto ao lado, David e Yvette dormiam. Achei bom que David houvesse se acalmado e fosse capaz de ter sexo com Yvette sem necessidade de suas costumeiras artimanhas. A aviação e aquelas mulheres prosaicas, que encaravam a vida sem artificialismos, o haviam sossegado.
Brigid deitou-se de lado e levou minha mão à sua barriga.
- Não se incomoda?
- Já fui estudante de medicina.
- Então você deve saber. Yvette disse que vai ficar difícil nos últimos meses. A gente pode atrair um tipo de homem ruim.
Eu estava massageando sua nuca, como imaginava que os maridos fizessem com suas esposas grávidas. Senti a criança mexer-se, como que despertada pela música. A probabilidade de que o capitão Artvin fosse o pai da criança era remota, mas alguma coisa os uniu em minha mente. Supondo-se que Artvin estivesse morto e que somente eu sabia onde ele descansava, como colega de aviação eu tinha uma certa responsabilidade desarrazoada por aquela criança. Tentei pensar em Miriam, mas suas cartas vinham se tornando cada vez mais raras.
- Brigid, você gostaria de ir para a Inglaterra?
- Claro. Quem sabe se eu não conheceria a rainha...? Você poderia nos apresentar.
- Falo sério. Tenho dinheiro suficiente.
- E daí?
- Daí vamos juntos. Você pode ficar comigo lá.
- Juntos? - Ela se afastou, deitando-se de costas, e tirou minha mão de sua barriga. Puxou para baixo a anágua preta.
- Por que não? - Esperei que ela respondesse. - Acha que sou novo demais?
- Só um pouco. Vocês, rapazes da OTAN... Vão estar voando com suas bombas atômicas, para tornar o mundo um lugar mais seguro. Vamos dormir enquanto ainda é tempo...
A frieza dela doeu, por mais tolo que meu plano de bêbado parecesse à luz inquietante da ressaca do dia seguinte. Uma semana depois, voando sobre Deer Lake, tentei me lembrar da posição do Harvard submerso. Eu avistara o lago em forma de tartaruga em algum ponto a sudoeste, mas agora desaparecera na paisagem sempre igual. Aquecido pelo sol de fins de fevereiro, o gelo superficial começava a derreter, e os lagos mudavam de forma, pois a neve recuava para seus limites originais. Abandonando meu exercício de navegação, pus-me a voar de um lado para outro sobre a imensidão branca, passando pelas isoladas caixas d’água e os silo-elevadores.
Uma hora depois, quando localizei o Harvard, eu já estava quase sem combustível. O lago-tartaruga transformara-se numa longa elipse, parte de um aglomerado de lagos pequenos, separados por meandros amarelados. A fuselagem estava coberta de algas, mas pude ver os números borrados na asa. Sobrevoando o lago em círculos, a 150 m de altitude, fixei as coordenadas de sua posição. Assim que o lago esquentasse, no começo da primavera, um mês antes de sermos transferidos para a escola de jatos em Winnipeg, eu alugaria um bote inflável e mostraria aos turcos onde o colega deles estava sepultado. Imaginei que seria bom se eles resolvessem deixá-lo no lago, apartado do mundo no casulo de algas, ainda empenhado em seu vôo solitário.
A trinta quilômetros de Moose Jaw, os tanques ficaram vazios. Por sorte, achei um trecho vazio de estrada, entre dois trigais desertos. No último instante, quando fiz a aproximação, vi os mourões sob o acolchoado de neve. O Harvard tocou o solo numa tempestade de lama gelada que espirrou sobre os campos silenciosos. Perdeu a ponta da asa direita, fez um cavalo-de-pau e derrapou, indo parar na vala ao lado da estrada.
Quinze minutos depois, enquanto eu ainda estava meio tonto na nacele, chegou um criador de minks num Cadillac com estofamento de veludo. Observou com atenção o sangue que escorria de meu capacete, e seus lábios duros deram uma tragada forte no cigarro. Por fim, levantou o vidro da janela e foi embora. Soube mais tarde que em nenhum momento ele entrara em contato com a base aérea, talvez na esperança de que eu morresse congelado atrás do pára-brisa rachado.
Os oficiais superiores canadenses encarregados da instrução de meu processo admitiam abertamente sua perplexidade. Eu fora visto sobre Deer Lake, mas eles não entendiam como eu conseguira consumir a grande reserva de combustível do Harvard. Já estava resolvido que eu deveria interromper o treinamento e ser devolvido à Inglaterra, mas tinham examinado e reexaminado meu plano de vôo, suspeitando que eu estivera seguindo um rumo secreto.
Por acaso julgavam que, pensando em desertar, eu estivesse ensaiando o mesmo caminho de fuga tomado pelo capitão Artvin? Em certo sentido, tinham razão, como David bem sabia. Ele não moveu uma palha para interferir em meu favor, pois sabia que já era tempo de eu deixar a força aérea. Qualquer mitologia que eu viesse a construir para mim teria de basear-se nas coisas corriqueiras de minha vida, nos mais ínfimos afetos e gentilezas, e não nos bombardeiros nucleares do mundo e em seus sonhos de morte por atacado. Se eu revelasse a localização do Harvard, talvez convencesse os juizes a modificar sua decisão, mas eu já vira o suficiente da RAF. Queria esquecer Xangai, a avenida Eduardo VII e o clarão da bomba de Nagasaki, e havia uma maneira simples de fazê-lo.
Eu jamais lideraria o vôo em formação rumo à Terceira Guerra Mundial. Acriança ainda por nascer, no Iroquois Hotel, me dera meu novo rumo. Miriam escrevera para dizer que estava trabalhando num jornal de Fleet Street, e eu queria estar com ela outra vez e espantar-me com sua roupa de baixo americana. Entristeceu-me deixar David, que percorria incessantemente as estradas de Saskatchewan em seu Oldsmobile usado, mas agora ele estava feliz e tinha seus próprios objetivos. Voar o ajudara a livrar-se do passado, e ele já falava em deixar a RAF ao fim de seu período de alistamento e tornar-se piloto comercial. Por ora, seria bom ele ficar em Moose Jaw e fazer o possível para animar os turcos. Os rapazes da OTAN encenariam seus motins e encheriam o bar do Iroquois, enquanto os filmes sobre doenças venéreas eram exibidos no anfiteatro de meteorologia e o capitão Artvin continuava sua longa viagem para casa.
Vamos ao Mundo Mágico? - perguntei às crianças. - Mundo Mágico! Vamos! - Henry, de quatro anos, já estava no portão, batendo o trinco de ferro. Gritou para a cadela dos vizinhos, que dormitava: - Polly, nós vamos ao Mundo Mágico!
Alice, de três anos, veio pelo caminho da garagem aos saltos, admirando seus sapatos reluzentes.
- Mundo Mágico, Mundo Mágico...!
Miriam recostou-se na porta, enquanto eu procurava os óculos escuros na barafunda de brinquedos e contas ainda por abrir na estante do vestíbulo. Acenou para as crianças, sorrindo para elas como se nunca mais fosse vê-las e querendo guardar para sempre aquele momento na memória. Quando voltássemos do passeio, Alice e Henry teriam passado por cem pequenas mudanças maravilhosas, deixando suas personalidades daquele momento em algum lugar dos bosques. Os pais sentiam saudade de cada segundo daquelas muitas vidas que se perdiam.
- Fique de olho neles.
- Eles é que vão ficar de olho em mim. Voltamos dentro de uma hora... Tem certeza de que não vai acontecer nada antes disso?
- Não sei...
No último mês de sua gravidez, o tempo parecia retardar-se para
Miriam, alongando o menor de seus gestos - a mão levantada para aliviar o peso dos seios túrgidos, o batom passado distraidamente na boca. Ela estava ingressando no reino intemporal da criança em seu ventre; mãe e filho começariam a vida juntos. Ela apertou o corpo contra o meu, pois sabia que eu gostava de sentir o volume quente sob sua bata, e deu uma pancadinha em meu pênis.
- Só para ter certeza de que você está levando tudo de que poderá precisar no passeio.
- Ps... A Sra. Bell pode ouvir. Ela já me critica bastante.
- Ela adora você. Se não fosse você, não teria trabalho. Abracei Miriam, sentindo os conhecidos perfumes de talco infantil, manjericão, maquilagem e sabão em pó que vinham de sua bata. Na bainha havia uma nodoazinha marrom deixada por uma das crianças, ocupando seu lugar entre as incontáveis nódoas e cheiros de nossa casinha, um reino de mamilos inchados no qual eu passara toda uma vida.
- Agora, descanse. Não comece a reconstruir o quarto.
- Traga para mim uma mágica qualquer.
Com um último aceno, passei o trinco no portão e saí com Henry e Alice pela rua ensolarada. Polly, a cadela, resolvera juntar-se a nós. Seguia ao lado de Alice, parando de vez em quando para farejar e molhar um poste. As casas modestas da rua Charlton se exibiam atrás de seus tranqüilos jardinzinhos, mas vê-las através dos olhos da cadela e das crianças transformava as roseiras e os canteiros, as portas recém-pintadas e os patins esquecidos. Essas coisas tornavam-se mais vividas, como se soubessem que Polly e as crianças em breve as esqueceriam e estivessem se mostrando de modo mais brilhante. Nossa casa era também tão modesta quanto as demais - meu salário como subeditor de uma revista científica mal dava para pagar a pequena hipoteca -, porém Miriam, Henry e Alice a tornavam um incessante parque de diversões de barulho e alegria. Atrás de outras portas na rua Charlton havia outras Miriams. Jovens mães e seus filhos passeavam pelas ruas de Shepperton e brincavam em seus jardins como agentes de uma exuberante potência estrangeira.
O número de crianças sempre me surpreendia - aquela cidadezinha à beira do Tâmisa era uma usina de vida. Ao chegarmos ao fim da rua Charlton já havíamos reunido um garoto de cabelos cor de areia num velocípede, duas meninas de dez anos e a filhinha pequena do mestre-de-obras do lugar. O relvado estava cheio de crianças que brincavam e pescavam barrigudinhos nas margens do rio. Eu tinha a sensação de que as roupas coloridas de verão, as tarrafas e as vozes das crianças eram um sonho gerado por aquela corrente plácida, adormecida sob os salgueiros.
Alice e Henry correram para a margem, onde duas mães, sentadas num banco de parque, vigiavam os filhos. Descalcei os tênis e pus-me a caminhar na grama fresca. Depois dos salgueiros ficava a superfície calma de um lago artificial, onde a gigantesca escavadora se elevava como as rampas de lançamento de Cabo Canaveral.
Shepperton era cercada de água - o rio, os lagos e os reservatórios do serviço metropolitano de águas, cujos altos taludes formavam o horizonte de nossas vidas. Uma vez eu dissera a Miriam que estávamos morando no leito de um mundo marinho, que invadira nossas mentes, e que a gente de Shepperton era uma nova forma de mamíferos aquáticos, criaturas saídas de uma nova versão de Os Bebês da Água.
Todos éramos bebês d'agua. Alice estava berrando na lama verde que Henry remexia com um pau achado perto do rio. Mostrei-lhes um besouro d'agua morto, mas estavam mais interessados numa lata de aerossol, que flutuava entre os caniços. Ainda continha um pouco de propelente, e Henry disparou um jato de tinta numa libélula que se aproximou demais.
Tentando repintar o ar, fomos pelo meio dos salgueiros até o riachinho que atravessava a estrada. A água corria, clara, sobre os seixos rolados, mas os carros que usavam esse caminho como um atalho para Shepperton muitas vezes atolavam ali. Irritados, os motoristas davam com uma platéia de mães sorridentes e seus filhos, curiosos para ver o que fariam. Ali tinha sido filmada uma seqüência do filme Genevieve. Na cena do carro antigo atolado, aparecíamos nós dois, Henry e Alice no canto da tela, debruçados sobre a balaustrada polida da ponte de pedestres.
Antecedidos pelo cachorro, seguimos rio acima, juntando mais crianças no caminho. Os estúdios retangulares das companhias de cinema elevavam-se sobre as árvores. Eles dominavam a cidade tanto quanto o mundo marinho dos reservatórios. Muitos dos programas que víamos na tevê eram gravados nas ruas de Shepperton, cujas avenidas arborizadas serviam para representar cidades de toda a Inglaterra. Na cabecinha de quatro anos de Henry, Shepperton começara a colonizar todo o planeta.
Essas confusões de imagem e de ilusão davam a Shepperton sua característica distintiva, como se a verdadeira realidade repousasse numa fusão das duas coisas. Na casa ao lado da nossa morava um casal cuja filha era uma atrizinha de tevê. Duas vezes por semana, as crianças a viam
aparecer num de seus seriados prediletos, e às vezes ao deixarem a telinha, viam-na na rua Charlton, descendo do carro para visitar os pais. Henry e Alice corriam para falar com ela, acreditando que a personalidade real da garota se situava em algum ponto intermediário entre sua identidade da rua e aquela, muito mais real, que aparecia na tevê. Muitos de nossos vizinhos trabalhavam como figurantes nos filmes de longa-metragem rodados nos estúdios de Shepperton, e às vezes eu tinha a sensação de que Miriam e eu estávamos representando nossos papéis numa alegre e caótica comédia cujo roteiro íamos compondo à medida que levávamos a vida.
As crianças se acocoraram na beirada do lago, observando um carro submerso, que descansava no leito arenoso. O lago fora povoado de alevinos pelo clube de pesca local, e trutas coloridas entravam e saíam do carro pelas janelas abertas. Aqueles carros afundados nunca deixaram de intrigar Alice e Henry.
- Henry, aonde o carro vai? - perguntou Alice.
- Vai muito longe - respondeu ele. - Vai para a China. Miriam lhes explicara que se cavássemos um buraco bem fundo em nosso jardim, ele acabaria dando na China. Aquele laguinho era o maior que Henry já avistara, e muitas vezes ele procurava me convencer que era aquele buraco que ia até Xangai. Certa vez, quando mergulhei no lago, ele me olhou como se eu estivesse prestes a sumir para toda a eternidade no mundo de minha infância.
- Papai, vai nadar até a China agora?
- Bem, a China fica longe demais para eu chegar lá nadando antes da hora do chá. É melhor a gente ir ao Mundo Mágico.
Esperei que Polly reunisse as crianças e as conduzi na direção de um grupo de abetos. Colchões e bicicletas enferrujadas se espalhavam entre os pinheiros, e seguimos o caminho escuro até um gramado cercado, atrás dos estúdios. O sol brincava no capim alto, e as crianças saíram correndo em minha frente, com as cabeças balouçando como lanternas.
Havia no gramado toda uma coleção de objetos abandonados pelas companhias que faziam comerciais para a televisão. Brilhava ao sol um pirulito do tamanho de um automóvel, e seu envoltório de papier-mâché já se soltava da estrutura de madeira. A seu lado havia uma embalagem de detergente de minha altura, feita de folhas de compensado já empenadas pela exposição ao sol e à chuva, e um vidro de ketchup, de fibra de vidro, pintado em esmalte vermelho. Pedaços de lona se soltavam de embalagens de xampu e tubos de pasta de dentes, mas nada disso jamais diminuía o assombro de Alice e Henry. Eles corriam aos gritos pela grama, fascinados com as versões ampliadas de objetos que conheciam no dia-a-dia de seu mundo doméstico.
O que mais lhes causava prazer era uma réplica, de três metros de altura, de um rolo de papel higiênico. Em visitas anteriores, Henry abrira uma passagem na lona meio podre, e por essa portinha as crianças se meteram, uma a uma. Eu os escutava gritar de alegria diante de um rolo de papel tão grande que poderiam morar em seu interior. Agitavam os braços através da lona, chamando Polly, que tentava freneticamente abrir caminho com o focinho para dentro do rolo escuro.
- Vamos fazer uma festa! - propôs uma das crianças.
- Festa, festa... - Alice estava pulando dentro do rolo gigantesco, vigiando os sapatos brilhantes, com medo de que desaparecessem de seus pés.
Deitei-me de costas na grama, feliz por imaginar que em breve haveria outra criança para dançar no gramado encantado. Era bom que nosso terceiro filho nascesse ali, saído tanto do rio e do relvado úmido quanto do ventre de Miriam. Seu primeiro parto, na maternidade do lugar, acontecera antes que eu chegasse em casa, pois ela o esperava para o dia seguinte. Nosso filho enorme, solene como um conselheiro municipal, dormia nos braços da mãe quando cheguei ao hospital. Mas as crianças ficavam separadas das mães durante longos períodos, berrando em uníssono no berçário, atrás de uma pesada porta, e Miriam jurou que seus futuros filhos haveriam de nascer em casa, em nossa própria cama.
Assim geramos Alice, dormimos junto dela enquanto se formava e fizemos amor uma hora antes que começasse o trabalho de parto. Miriam ficou deitada em seus próprios travesseiros, agarrando-se na cabeceira, com seu instável abajur de leitura, cercada pelo guarda-roupa e suas roupas, pela fotografia da mãe e pelas flores e cartões dos amigos na penteadeira. Nessa toca cálida, nada asséptica, ela rapidamente dera à luz Alice enquanto eu não parava de chorar atrás dos ombros eficientes da parteira Bell. Naquela noite dormimos juntos, com Alice no berço, a nosso lado, enquanto Polly fuçava a lata de lixo, farejando a placenta embrulhada em jornal. No dia seguinte Miriam já estava de pé para receber as amigas e se despedir de mim quando saí para trabalhar.
Não só eu estava feliz porque nosso filho ia nascer em Shepperton, como até tinha a sensação de que eu mesmo nascera ali. O passado se desvanecera, carregando consigo as lembranças de Cambridge e do Canadá, da sala de dissecção e dos desertos nevados de Saskatchewan... e até de Xangai. A luz quente de Shepperton me recordava o ar iluminado que eu avistara sobre os arrozais abandonados de Lunghua ao caminhar pela linha férrea, mas a luz que banhava o relvado provinha de um sol mais ameno e suave. As crianças que Miriam dera à luz e as outras que brincavam à beira do rio tinham ocupado o lugar dos chineses mortos, deitados nos ribeirões e nos canais de Lunghua.
Pela primeira vez eu estava vivendo num presente infindável que nada devia ao passado. O céu sobre Shepperton era cruzado por aviões, que levavam turistas para as praias de Corfu e da Costa Brava. Em breve todo o planeta estaria de férias. Em Cabo Canaveral, os americanos preparavam-se para voar ao espaço. Na televisão, víamos Richard Sutherland falando do centro espacial, com o sol da Flórida tirando chispas em seus cabelos. Ele era agora apresentador de programas de divulgação científica, membro de uma nova geração de cientistas que, nos meios de comunicação, ensinavam o mundo a não ter medo. Seus comentários pouco convencionais combinavam perfeitamente com os anúncios de doces e xampus. Passado e presente tinham sido fundidos a um presente tão raso e divertido como um livro infantil de colorir.
Acordei no calor sonolento do relvado, percebendo que as crianças estavam brigando dentro do rolo de papel higiênico. Um aviãozinho passava no alto, com sua hélice refletindo o sol. Era um monomotor Piper, que vinha do oeste, onde ficava o campo de Fair Oaks, depois de Chertsey.
Descreveu uma larga curva sobre os estúdios, com os flapes abaixados, como se o piloto estivesse tentando pousar naquela campina secreta.
As crianças pararam de brigar. Alice correu em minha direção, enquanto eu me ajoelhava na grama, e escondeu a cabeça em meu ombro.
- Aquele avião é mau, papai?
Como sempre, admirei sua perspicácia. Ela percebera que eu franzira a testa ao ver a câmara fotográfica montada atrás da porta do passageiro.
- Não, é um avião bom... Talvez ele lhe traga um presente. Henry encostou-se em meu joelho, afastando a mão de Alice de meu queixo.
- Papai, ele tem uma bomba?
- Uma bomba? Quem iria querer bombardear Shepperton?
- Quem sabe não é o tio David? Papai, ele tem uma bomba. Ele me disse.
- Não tem mais não. Além disso, ele gosta muito de vocês e de mamãe. Para casa, todo mundo...
David Hunter veio ver-nos naquela tarde. Deixara a RAF ao fim de sua breve comissão, depois de combater contra os terroristas no Quênia e de um período final em que pilotara o bombardeiro nuclear Vulcan.
- Pense só, Miriam - gostava ele de lembrar-lhe. - Se aquele turco não tivesse desertado para a Rússia, seu marido e eu poderíamos ter soltado a primeira bomba de hidrogênio sobre Moscou. Como é que você se sente casada com um homem que poderia ter começado a Terceira Guerra Mundial?
Sua simpatia brincalhona ainda o protegia, mas ele tinha a inquietude de um homem à espera de que o passado surgisse de repente e lhe desse um tapinha no ombro, com alguma pergunta absurda mas perturbadora. Durante um ano ele vagueara pela periferia da aviação comercial, e depois comprara uma pequena companhia especializada em fotografia aérea. Viajava durante meses, fotografando complexos industriais no Brasil ou hotéis em construção nas ilhas Seychelles. Na semana anterior estivera em Fair Oaks, rodando um filme sobre um autódromo de antes da guerra, o de Brooklands.
Nômade como sempre, ele se espantava com minha tranqüila domesticidade, suspeitando que eu reprimira uma parcela substancial de minha verdadeira natureza. Ciente de que Míriam se sentia pouco à vontade diante de qualquer referência a Xangai, ele raramente se referia à nossa infância durante a guerra.
Chegou com presentes para as crianças e uma garrafa de uísque para mim, que imediatamente abriu e pôs-se a beber. Para Miriam, tinha trazido flores e pródigos elogios a que ela não resistia.
- Por que as mulheres grávidas são tão eróticas? Diga-me, Miriam. No fundo, no fundo, eu sei que qualquer dias desses vamos nos casar.
- Está se formando uma fila - avisou-lhe Miriam. - Richard Sutherland, Henry, Jim... Você vai ter de brigar muito para isso.
- Meu Deus, mulher, já estou ajoelhado junto do altar. - Pôs as mãos na bata de Miriam. - Está para acontecer a qualquer momento. Se ele sair esta tarde, posso ver?
- Só se você puder provar que é o pai. - Miriam adorava suas atenções, como também as de outros homens, muito mais do que as minhas. Ela sempre fora coquete, mas cinco anos de casamento e filhos tinham feito o mais leve galanteio parecer sério. Para a mãe de dois filhos, o sexo era tudo ou nada. Eu sabia que de vez em quando ela ansiava por sumir, ir viver em sua ilha deserta com três homens estranhos... ainda que com marido e filhos aguardando numa pensão decente na baía ao lado... e que ela incentivava minha literatura como uma maneira de viver perto de uma vida de aventuras. Vagamente, eu adivinhava que um dia ela teria romances e que aquela segunda infância estaria terminada. Eu aprendera que uma mulher podia amaro marido e os filhos, mas ainda assim sentir-se inquieta o bastante para querer deixá-los.
Enquanto tropeçávamos em brinquedos quebrados no jardim, David chegou aonde queria.
- Vou viajar para Hong Kong no fim do mês. Todas as despesas pagas. Vamos filmar um conjunto habitacional em Kowloon para um empresário chinês.
- Que bom. Há muitas pessoas em Xangai que você poderá procurar.
- Vou evitá-las. Quero mesmo é ir a Xangai.
- Pense em mim ao passear pelo Bund.
- Eu estive pensando, você não gostaria de ir também?
- A Hong Kong?
- Principalmente a Xangai. Poderia tirar uma licença de um mês. Precisamos voltar lá e rever aquele lugar.
- David, não posso. Mesmo que eu quisesse ir, há o problema de Miriam e do neném. Você arranjará companhia em Hong Kong.
- Não, obrigado. Já imagino aquele pessoal antigo de Xangai, que só falam em tiffin, mah-jong e em quantos criados eles tinham... nada a ver com o que realmente aconteceu. É por isso que você e eu devíamos ir.
- Não aconteceu nada.
- Para começar, Jim, nós acontecemos. Aquela estação de trem sobre a qual você não parava de falar em Moose Jaw. Nós devíamos encontrá-la para você.
- Aquilo foi um assassinato. Pior para o chinês, mas não significou nada.
- Você dizia que ele estava tentando lhe dizer alguma coisa. Você precisa se afastar disso tudo... essa coisa de casa, trabalho e criança o dia todo.
- David, esta é a única época da vida em que fui feliz.
- Mas, Jim, não se deve ser feliz demais.
Depois que David saiu, falei de sua proposta a Miriam.
- David é uma besta! - Miriam jogou a caçarola na mesa da cozinha, onde as crianças tinham armado uma réplica em miniatura de seu Mundo Mágico. - Faz anos que você n3o voa. Ele faria com que você se matasse da primeira vez em que tentasse decolar.
- Ele não quer que eu pilote. Precisa que eu vá a Xangai com ele, caminhe pelas ruas onde brincávamos de esconder. Às vezes tenho a impressão de que ele ainda está brincando lá sozinho. Ele se parece com aquele pessoal de Xangai, que tanto odeia.
Miriam sabia que eu não tinha a menor intenção de ir, mas levou as mãos a meus ombros.
- Meu amor, esqueça essa idéia... Você deixou tudo isso para trás.
- Um dia talvez eu escreva sobre a guerra... Ter estado lá será útil.
- De jeito nenhum. Se você não voltar, tudo o que escrever será muito mais real. Quando visito mamãe e papai em Cambridge, fico olhando a casa e é difícil acreditar que em menina morei ali. É como um cenário de filme, com aqueles dois velhos atores... Nem eles conseguem lembrar o roteiro.
Mais tarde, na cama, depois que as crianças tinham ido dormir e a velha retriever latiu para a Lua pela última vez, massageei os ombros cansados de Miriam. Perfumes estranhos pairavam sobre suas orelhas e axilas, odores estimulantes de hormônios, que aumentavam e diminuíam, atropelando seus respectivos ciclos. Toquei-lhe os bicos dos seios, macios, umedecidos por alguma secreção de que eu me lembrava de suas gestações anteriores prévias.
- Gostoso? - perguntou Miriam, terminando a taça de vinho que a ajudava a dormir.
Levei os dedos aos lábios, saboreando os sabores fortes, mais próximos ao gosto de seu sexo do que do leite que se acumulava em seus seios.
- Colostro... Na verdade, os homens não gostam do gosto do leite de suas mulheres.
- Melhor para o neném. É a maneira como a natureza garante que a criança vai se alimentar direito. Já provou o leite de outra mulher?
- Não... - Lembrei-me da prostituta grávida de Moose Jaw, que queria conhecer a rainha. - Peça uma amostra a suas amigas da clínica.
- A parteira Bell vai adorar isso.
- Diga a ela que vamos entrar no ramo de laticínios. Produtos Orgulho da Mamãe. Lema da firma: “Shepperton mete os peitos e trabalha.”
- “Manteiga Fresca de Leite Humano.” Já imaginou? Iogurtes e milk-shakes] Só de pensar...
- Teríamos uma linha de queijos, com sabor de várias marcas de cigarros, batons e pasta de dentes...
- As mulheres de policiais dariam um excelente queijo curado, tipo leite de cabra. - Miriam adorava vôos de fantasia e tinha um saudável interesse por possibilidades excêntricas da anatomia e da fisiologia humanas. Sempre percebera a gozação e o humor dos surrealistas. Shepperton a chateava um pouco, e ela gostava de afrontar suas normas convencionais. Enquanto a secreção de seus seios me umedecia as mãos, ela se pôs a divagar, feliz: - As vegetarianas produziriam queijos macios e cremosos, as atrizes do West End um Camembert supercurado, as rainhas e princesas um Stilton rico...
- Vamos organizar uma degustação de queijos para os amigos...
- Parece que estou vendo Peggy Gardner! - Miriam sentou-se, abafando o riso no travesseiro. Sua barriga subia e descia, e o neném viajava numa montanha-russa de risos e gargalhadas.
Quinze minutos depois começou seu trabalho de parto.
- Vamos arrumar você, meu bem. O neném vai querer encontrar um quarto ajeitado.
A parteira Bell se movimentava com eficiência pelo quarto, levantando poeira e restos de talco velho ao passar uma toalha úmida na penteadeira. Pendurou as batas de Miriam no guarda-roupa, como uma roupeira de teatro guardando figurinos inúteis ao fim de uma temporada. Achou, debaixo da cama, um ursinho de uma perna só e um urinol de criança, com o conteúdo antigo já fossilizado, e entregou-a a mim com uma careta refinada. Chegara pouco depois da meia-noite, logo que Miriam acabara de tomar banho, mas insistiu em raspar-lhe os pêlos e lavá-la de novo. Trocou os lençóis com Miriam na cama, empregando uma série de dobras complicadas, como um prestidigitador que demonstrasse um truque com um origami em grande escala.
Agora que a mãe e o quarto correspondiam às exigências da parteira, a criança podia nascer. Sobre o criado-mudo estavam seu estojo de instrumentos, as luvas e o cilindro de gás - tudo, exceto a lendária água quente. Ela não me pedira que fervesse uma gota sequer.
Perturbada pelo barulho, Alice começara a chorar, ainda dormindo. Henry acordou e brigou com ela, batendo sua cama na parede. Miriam se mantinha imóvel, com os olhos grandes fixos no rosto sereno da Sra. Bell, esperando a próxima contração. Saí para acalmar as crianças, fiz para Alice um joguinho de palavras de que ela gostava, e depois dei a Henry um velho cobertor de neném, um universo de cheiros queridos.
Quando voltei para o quarto, as contrações de Miriam já se sucediam a intervalos de dois minutos. Com a camisola enrolada no busto, ela enchia os pulmões compassadamente, e a Sra. Bell estava sentada a seu lado, auscultando os batimentos cardíacos da criança.
- Pode segurar a mão de sua mulher... Eu sei que ela vai gostar...
Apertei os dedos de Miriam. Ela sorriu de leve, mas percebi que já havia se afastado de mim. Na verdade, só a parteira e a criança lhe faziam companhia no quarto. Ela umedeceu os lábios, fitando a penumbra do teto e o abajur meio desfiado na cabeceira, como se aquele fosse o único parto em toda a história, o nascimento original do qual provinha toda a vida. Quando Miriam soltou minha mão, senti que ela e a parteira haviam retornado a um mundo mais primitivo, onde os homens jamais se intrometiam, e até o papel que desempenhavam na concepção era desconhecido. Ali, a cadeia da vida se fazia de mãe para filha, de filha para mãe. Pais e filhos pertenciam ao domínio das sombras, juntamente com os cães e o gado, como a retriever que, da janela da sala de meus vizinhos, rosnava para o desconhecido carro da parteira.
Entretanto, fiquei satisfeito por Miriam não ter dado ouvidos à Sra. Bell e insistido em que eu ficasse com ela durante o parto. Apesar de todo seu gosto pelo não-convencional, Richard Sutherland recusara estar presente, quando Miriam, meio brincando, o convidou. Alegou que o sofrimento de uma mulher na situação do parto, expondo os órgãos genitais e arquejando de dor, simulava inconscientemente um estupro e diminuía a esposa aos olhos do marido, como se ele a tivesse visto ser brutalizada por um estranho. Não era à toa que as culturas mais antigas segregavam as mulheres durante a gravidez, preservando o mistério do corpo da esposa.
Ao contrário, era nesses minutos finais que eu me sentia mais próximo a Miriam. Tudo me ligava a ela: o suor em suas coxas, a mancha sobre o umbigo, suas sardas e as estrias peroladas, a pele depilada de seu púbis e as pétalas vividas de seus grandes lábios, seu clitoris intumescido, virado para a esquerda, as cicatrizes de infância em seu joelho e as manchas em suas nádegas, o talco úmido brilhando nos seios e nos ombros.
Miriam soltou uma ventosidade forte e estendeu as mãos para agarrar a cabeceira da cama. A Sra. Bell desviou o nariz, mas o ar estava carregado com o cheiro de gás anestésico.
- Se continuarmos assim, vamos acordar a rua inteira. Agora, faz força de novo, meu bem. O neném está pronto. Mais força...
Miriam franziu a testa, concentrando-se à espera da próxima contração. Ofegando, cerrou os punhos.
- Meu Deus! As hemorróidas estão me matando...! Ajoelhei-me e meti as mãos entre suas nádegas, comprimindo os dedos contra o ânus inchado. O revestimento ingurgitado de seu reto saía. Empurrei o bolo esponjoso para o interior de seu ânus, e o mantive ali ao sobrevirem as últimas contrações.
- Mais uma forcinha, já está vindo... Outra forcinha para a cabeça...
A vulva de Miriam se expandira, e a coroa de uma cabecinha minúscula surgira entre suas pernas. Os cabelos negros estavam úmidos e bem partidos, como se uma natureza cuidadosa houvesse arrumado a criança para sua primeira aparição no mundo.
- Faça força agora, estamos acabando...
O rosto inteiro havia saído, uma testa alta, miniaturas de um nariz e de uma boca, e os olhos fechados, como que apertados pelo tempo, pelas eras infinitas que haviam precedido aquela criança no reino animal. Despertando para o sonho profundo da vida, ela não parecia jovem, mas infinitamente velha, trazendo milhões de anos na regularidade faraônica das faces, das velhas pálpebras e narinas. Seus lábios estavam serenos, como se ela houvesse suportado com paciência a imensa jornada através do universo até aquela casa modesta, onde a mãe a aguardava.
De repente, ela se tornou jovem outra vez. Num jorro final de fluido, um bichinho rosado e sem pêlos estava aninhado nos braços da parteira Bell. As lágrimas rolavam de meus olhos, e senti os dedos de Miriam apertarem minhas mãos. A luz da madrugada preenchia os espaços entre os telhados dos vizinhos. Depois de algumas horas distante de mim, Miriam voltara e era novamente minha mulher.
Miriam passou a manhã dormindo, ao lado da neném em seu bercinho de vime. A Sra. Bell veio ao meio-dia, deu banho na criança e se declarou satisfeita, como que disposta a aceitar o ingresso formal de nossa filha no mundo terrestre do tempo e do espaço. Antes de sair, entregou a Miriam seu estojo de maquilagem, a escova de cabelos e o espelho. As parteiras sentavam-se perto do fogo, ocupadas com seus banhos e as bolsas d'agua. trazendo a vida à luz. Em contraste, o Dr. Rogers, o médico de Miriam, com seu humor jovial e seus conselhos fora de hora, parecia um distraído guia de turismo, procurando sem muita confiança a fonte sagrada.
Alice e Henry entraram no quarto na ponta dos pés e examinaram o bebê, curiosos mas com certa expressão desaprovadora.
- Ela vai ficar com a gente? - quis saber Alice. Miriam riu.
- Você não quer que ela fique?
- Pode ser...
Henry estava mais interessado nos restos do equipamento da parteira, os chumaços de algodão e a máscara. Miriam sentou-se e os abraçou com força. Mais tarde, levei-os para passar a tarde com amigas de Miriam, e logo estavam planejando brincadeiras e cerimônias de iniciação para a irmãzinha. Vista através de meus olhos insones, Shepperton tinha mudado. O ar era mais intenso, como se a cidade estivesse sendo iluminada para uma produção dispendiosa nos estúdios de cinema. As mulheres sentadas debaixo dos secadores nos salões de beleza e os caixas atrás dos guichês no banco pareciam extras recrutados para representar moradores típicos dos subúrbios. A qualquer momento começaria a ação, e eu descobriria que tinha de fazer uma ponta e não decorara minha pequena fala.
Quando voltei para casa, Miriam me chamou do quarto. Tinha vestido uma camisola limpa, penteado os cabelos e passado pó no rosto. O batom nos lábios era uma flâmula a esvoaçar, altaneira, sobre os destroços do cômodo silencioso.
Olhei para a neném. Ela mudara mais uma vez, estava mais rosada e mais viva. Mesmo dormindo, movimentava os lábios, como se tentasse lembrar uma mensagem que lhe fora confiada pelas invisíveis potestades da criação. No espaço de poucas horas vivera vários papéis: antes mensageira de eras arcaicas, ela se tornara um fugidio espírito aquático, batizada no líquido amniótico da mãe, para se tornar enfim a criancinha sonhadora cuja pele se crispava ao contato com a luz e o ar.
- Lucy...? - propus.
- É... Lucy.-Miriam chamou-me para a cama. - Você deve estar exausto. Venha deitar-se por uma hora.
Tirei a roupa e deitei-me ao lado dela, com a mão em seu ombro. O leve e acre cheiro de anestésico persistia nos travesseiros, e eu mesmo me senti arrastado de volta àquela noite intensa da qual Lucy emergira.
- Me abrace... - Miriam apertou minhas mãos em sua cintura. Abaixou a gola da camisola e expôs os seios, cujos bicos inchados já estavam estimulados pelos lábios da neném. Empurrou o lençol para baixo e puxou a camisola para a cintura. Estendeu a mão e pegou meu pênis. Levantando os joelhos, sorriu enquanto eu lhe massageava os pés e os tornozelos e afagava suas coxas.
- Entre em mim...
Deitado de lado, penetrei-a. As paredes de sua vagina já se contraíam, e me prenderam num forte abraço.
Lucy se mexeu, fazendo estalidos com a laringe. Miriam sorriu para ela, com as mãos em meus ombros, sentindo meus movimentos lentos dentro de si. A magia da vida pairava sobre nós, sobre a criança adormecida, sobre tudo na cidade ensolarada.
Eu nadava com vigor, a quatrocentos metros da praia de Santa Margarita, quando vi a barca de Estartit vindo em minha direção. Cheia de turistas a caminho de Cadaques e da mansão de Dali em Port Lligat, ela avançava pelas águas escuras onde a baía das Rosas se encontrava com o mar aberto. Jorros de espuma saltavam da proa e iam bater na amurada, molhando as pernas das moças alemãs e escandinavas, que, de óculos escuros, observavam os morros serrilhados.
Um iate passou por mim, com a vela mestra a um palmo da água. Nele ia um casal francês de meia-idade, a me olhar com incredulidade. Um pedalinho dirigido por dois adolescentes estava também distante da praia, mas eu me achava bastante além do limite da maioria dos nadadores ocasionais. Decidira atravessar a baía a nado, saindo de Santa Margarita e percorrendo uma distância de pouco mais de um quilômetro e meio, mas era evidente que o casal francês não acreditava que eu fosse conseguir.
Sem lhes dar atenção, continuei a nadar nas águas escuras e ensolaradas, e de vez em quando lançava um olhar para a sacada de nosso apartamento. Depois do café da manhã eu anunciara minha decisão de desafiar a baía, e as crianças tinham ficado admiradas com a enormidade do projeto.
- Papai, a baía tem pelo menos... dezessete distâncias! - exclamou Alice, pensando na piscina pública perto de Shepperton.
- Mais de cem - informei-lhe. - Ou de duzentas, se eu nadar de volta.
- Duzentas! Papai você está inventando lorotas outra vez... Seguiu-se uma aula improvisada de aritmética, uma das poucas pelas quais já haviam se interessado. Viram-me entrar na água, persuadidos de que o pai nunca mais voltaria. Eu os avistava na praia, debaixo do apartamento, sentados no bote de borracha inflável, discutindo sobre minha posição exata. Acenei para eles, e vi Miriam, de chapéu e biquíni preto, acenar de volta. O gesto dela foi acompanhado de vários sinais semafóricos de bracinhos. Meu prestígio de herói estava garantido pelo menos até a hora do chá.
Continuei no rumo do cabo, carregado para oeste pela forte corrente de sentido anti-horário, que circundava a baía. A barca de Estartit se achava a menos de cem metros, virando na direção do cais de Rosas, onde pegaria o último grupo de turistas. O timoneiro estava de pé atrás das janelas abertas do tijupá, observando atento, como um caçador de perus, o mar cheio de pedalinhos. Viu a pequena esteira que eu deixava, e novamente alterou o rumo, vindo diretamente em minha direção.
Estaria embriagado? Esperei que ele virasse a roda do leme, mas seus olhos estavam fixos em mim como as linhas de uma mira. Os comandantes das barcas da Costa Brava tinham perdido o juízo por causa do sem-fim de turistas, tal como os garçons e os taxistas, que se equilibravam durante todo o verão na beira de uma explosão mental. Um nadador isolado empalado em sua proa não significaria mais do que uma borboleta num pára-brisa. A barca se precipitava sobre mim, e a água trazia o murmúrio cavo de seu hélice. Recorrendo à minha melhor técnica de crawl, passei a nadar em ângulo reto em relação ao rumo da embarcação. Os passageiros se debruçavam na amurada de vante, acenando para mim como se eu estivesse resolvido a me matar.
A barca passou a cerca de três metros e meio, com um estrondo de motor e o tilintar de dezenas de garrafas de cerveja. A esteira lançou em meu rosto uma nuvem de vapores de óleo. Exausto, boiei numa vaga. A praia estava a seiscentos metros de distância, e uma fileira de hotéis desconhecidos me confrontava do outro lado da água. Nosso edifício de apartamentos mudara de lugar na baía, e Miriam e as crianças achavam-se perdidas atrás das filas de barracas e pedalinhos na areia. A corrente me levara para além do píer de concreto, que assinalava o final da praia de
Santa Margarita. Eu já avistava a praia selvagem de Ampuriabrava, uma área de dunas relvadas, riachos e enseadas cheias de mosquitos.
Abandonando toda esperança de atravessar a baía a nado, repousei na corrente, e depois comecei o longo percurso até a praia vazia. O píer de concreto bloqueava minha visão de Santa Margarita, e fiquei a imaginar se Miriam me teria visto aparentemente desaparecer sob a proa letal da barca.
Vinte minutos depois, quando cheguei à praia, estava cansado demais para nadar. Deitei-me na água rasa, apoiando as mãos na areia áspera e deixando que as ondas, curiosas, me afagassem o rosto. Passou uma lancha, veloz, com dois homens rebocando uma moça de quinze anos em esquis. Afastaram-se num fragor de música de discoteca.
Nunca tocada por pés de turistas, a areia branca ali parecia algodão-doce. Saí da água e afundei nela. Eu quase fora picado em pedacinhos sangrentos sob o exame atento de centenas de turistas, que se agarravam a seus livretos-guias sobre a casa de Dali. Ouvi, um pouco além do píer, o barulho do motor de popa do bote inflável. Miriam me avistara e vinha em direção à praia.
Habilmente, encalhou o bote enquanto Henry saltava na areia.
- Você está bem? - Miriam se ajoelhou a meu lado. - O que está fazendo aqui? Eu me casei com um doido.
Henry olhou para mim, sério.
- Ele está morto?
- Está fazendo o que pode para fingir que sim.
- A morte deve ser mais ou menos assim. - Sentei-me, feliz por ver o sol. - Foi como tentar atravessar o Estige... Um comandante de barca quase passou por cima de mim.
- Que absurdo! Vamos dar parte dele à Guarda Civil.
- Provavelmente estão mancomunados.
- Quantas distâncias você nadou? - perguntou Henry.
- Umas mil. - Recostei-me em Miriam, descansando o queixo arranhado em seu ombro molhado e fresco. - E Alice e Lucy?
- Estão com os Nordlunds... Viram você da sacada deles. Henry, vamos levar papai de volta para o bote.
- Espere... Vamos explorar um pouco a praia. Isso aqui é uma espécie de ilha.
- Uma ilha deserta de verdade, papai? Com canibais?
- Canibais mesmo...
Havíamos chegado a um banco de areia, separado das dunas de Ampuriabrava por um braço de águas rasas. Com cerca de cinqüenta metros de largura, o banco de areia acompanhava a curva da baía, formando uma série de colinas cobertas de ervas. Ao caminharmos pelo terreno mais firme, passamos pelas ruínas de um galpão enferrujado. Junto dela havia garrafas de vinho, um velho rádio portátil e uma roda de bicicleta, tudo meio enterrado na areia. Nas depressões entre as dunas viam-se restos de pequenas fogueiras que tinham sido acesas no inverno. Do outro lado da enseada, pequenas angras e matagais se estendiam até a estrada de Figueras, mas já se viam cartazes de incorporadores imobiliários, anunciando um novo complexo de hotéis, marinas e edifícios de apartamentos.
Eu caminhava com o braço na cintura de Miriam e Henry seguia à frente, mas de repente ele voltou correndo em nossa direção.
- Eu vi uma casa de Wendy*! Tem uma porta e janelas... e sabe? Tem também um banheiro de verdade!
- Uma casa de Wendy com banheiro? - Miriam segurou-lhe a mão. - Tem certeza?
- Claro... Eu usei a privada.
No extremo oeste da ilha, as dunas se elevavam a uma altura de seis metros. Um antigo quebra-mar ruíra na enseada e as pedras tinham sido trazidas para a praia. Numa espécie de pátio erguia-se uma casinha com frontões e janelas de empena. No passado fora uma casa de banhos eduardiana, e provavelmente servira, durante anos, como galinheiro em um quintal de Rosas. Um pára-quedas esfarrapado pendia de um caramanchão de ripas e formava uma varanda.
Empurrei a porta da casinha e dei uma olhada no interior. Havia uma cozinha rudimentar, com uma pia de pedra, um fogareiro a gás de botijão e uma privada química. O chão estava coberto de areia, jogada pelo vento.
Miriam afundou numa cadeira de vime debaixo do pára-quedas, enquanto Henry e eu saíamos para explorar as dunas. Achamos fogos de artifício usados, latas de cerveja e até, misteriosamente, uma velha máquina de escrever portátil. Levei-a para o pátio e Miriam fez um sinal de aprovação.
Sentei-me a seu lado e soprei a areia das teclas.
- Muito bem, acho que estou pronto para começar a trabalhar. Isto aqui não é bem a Villa Mauresque, mas e daí?
- Então, mãos à obra. - Miriam fechou os olhos, ouvindo o marulho das ondas. - Este lugar é lindo... De quem será tudo isto?
- Talvez de beatniks. Nada está trancado e tudo está quebrado.
- É até parecido com Shepperton. Sempre achei que éramos os beatniks de Shepperton sem nos darmos conta disso.
- Ainda somos. - Descansei os pés sobre a máquina de escrever, já inteiramente esquecido de qualquer coisa que se relacionasse com trabalho. - É uma pena falar disso agora, mas o apartamento vai nos custar uma fortuna em reformas.
- Vou falar com o Senor Robles. Ele vai entender.
- Isso é o que você sempre diz. Dessa vez, represente o melhor que puder.
- Vou fazer isso... Acho que ele adora espiar meus peitos.
- É com aquela secretariazinha sinistra dele que você vai ter de se entender. Espero que ela goste de seus peitos.
- Quem sabe... - Miriam começou a passar óleo em meus ombros empolados, lançando um olhar para Santa Margarita. Já desde algum tempo, ela passara a sentir curiosidade pelos olhares de admiração de outras mulheres. A admiração de seu próprio sexo se situava num plano superior e mais intenso do que tudo quanto os homens podiam oferecer, como as rivalidades românticas de irmãs. Juntas, as mulheres formavam um bando conspirador, trocando olhares às costas dos homens.
- Vamos trazer as meninas amanhã - disse Miriam. - Quero que elas vejam isto... Parece coisa da televisão.
- Idéia esquisita, Miriam...
- Escute, por que não compramos uma casa para a gente aqui? Você sempre disse que gostaria de morar na Espanha.
- Vamos fazer isso, um dia.
- Hemingway, Gaudí, Bufiuel... Você poderia trabalhar aqui, eles são mais o seu mundo. - Miriam virou meu rosto para ela e apertou um dedo entre meus olhos. - Enfrente a realidade, meu amor, você nunca vai se sentir à vontade na Inglaterra.
- Acha mesmo? Eu me sinto à vontade em Shepperton.
- Nem mesmo em Shepperton. Faz dezoito anos que você mora na Inglaterra e ainda dá a impressão de que saltou do trem errado.
- Talvez eu precise voltar a Xangai. Eu devia ter aceitado o convite de David.
- Não, Xangai não. Você se livrou de tudo aquilo, graças a Deus. A Espanha talvez lhe dê o ânimo novo que está lhe fazendo falta.
- Estou precisando de ânimo novo?
- Mas é claro que sim. Veja só como você se entusiasma com aquelas touradas de terceira categoria em Figueras.
- Isso é o lado turístico da Espanha. E escolas para as crianças?
- Existem escolas aqui. Os espanhóis podem ser malucos, mas são cultos. Pense em seus pais. Eles foram morar lá na China.
- Mas levaram um pedaço de Surrey com eles. A Espanha seria um desafio muito maior. Pelo menos para você.
- Bobagem. Nós temos que tirar você da Inglaterra... De qualquer maneira, Dali vive aqui, em Port Lügat Talvez pudéssemos falar com ele.
- E também a misteriosa Gala, a bruxa dele.
Miriam abaixou-se como se fosse me beijar, e mordeu minha orelha. Exibiu uma gota de sangue na ponta da língua, e colocou-a entre meus lábios.
- Jim, você precisa conhecer mais bruxas. Um agarramento com a secretária do Senor Robles lhe faria muito bem. Talvez eu até providencie isto.
- Eu não saberia o que fazer.
- Meu querido, você não faria nada. Com toda tranqüilidade, ela desmontaria seu cérebro, como uma neurocirurgia. Meu amor, vou proteger você...
Ela puxou minha cabeça para seu colo, com seus cheiros de água do mar, loção de bebê e do perfume emprestado pela Sra. Nordlund. Ficamos vendo Henry entrar na água ao lado do quebra-mar. Ele levantou uma pedra e atravessou com ela o pátio, onde o primeiro lanço de uma escada simples fora construído. Henry alisou uma área e cuidadosamente colocou a pedra no lugar. Depois observou sua obra com orgulho infantil.
- Estou indo, Henry! - Miriam me afastou e, com um pulo, pôs-se de pé. Entrou na água e começou a ajudar Henry com as pedras. Deitei-me debaixo do toldo, vendo-a montar a escada modesta que em seu espírito já conduzia a uma nova vida. Oito anos de casamento e três filhos não haviam conseguido arrefecer seus entusiasmos. Desde nossos primeiros dias juntos ela sempre me animara a progredir, renunciando a férias para que eu pudesse terminar um livro, levando as crianças ao jardim zoológico de Londres a fim de me conceder algumas horas de paz. Sua confiança em mim jamais vacilara, nem mesmo durante a época das intermináveis cartas de recusa de editoras. Ela escondia extratos bancários, sem nada dizer tomava dinheiro emprestado à mãe e a Dick Sutherland. Em muitos sentidos ela me reconstruíra. Eu lhe devia tudo, meus filhos, meus primeiros livros publicados, a reconquista da confiança no mundo.
Mas em breve haveria mudanças, e eu me perguntava se as aceitaria com galhardia. Miriam participara da encenação de Como Quiseres, de Shakespeare, numa montagem ao ar livre dos Shepperton Players, fazendo o papel de uma ativa Rosalinda como uma militante feminista. Já falava em retomar a carreira de jornalista. Ao vê-la impaciente na cozinha, irritada com a infindável seqüência de refeições, eu vislumbrava a mulher madura e decidida de quarenta anos que ela viria a ser. De certa forma, ela me deixaria para trás, um Peter Pan problemático cujos bolsos estavam cheios de uma estranha terra amarela...
Por ora, ela havia entregado o coração à Espanha. Imaginei que o Senor Robles já devia ter-lhe mostrado uma de suas villas nas colinas sobre Rosas e Cadaques. Os Dalis talvez viessem a ser vizinhos mais difíceis do que Miriam imaginava, mas eu ficava feliz ao vê-la exultar com o olhar atento dos melancólicos espanhóis quando ela caminhava pelos supermercados de Rosas em seu biquíni preto.
Uma nova Europa brotara nas praias do Mediterrâneo, praias que na verdade tinham-se transformado em uma cidade linear com 4.800 quilômetros de comprimento e 300 metros de largura, que se estendia de Gibraltar a Glyfada, além dos subúrbios da zona leste de Atenas. A velha Europa abandonara seu passado, suas hierarquias e esnobismos. Ali, naquele reino sem classes, datilógrafas de Lancashire sentavam-se à mesma mesa de bar com contabilistas de Estocolmo e caminhoneiros dinamarqueses. As praias da Espanha eram a Califórnia da Europa, ou ao menos a sua Flórida. Eu gostava de sua cultura de marinas, suas estradas sem fim, seus edifícios de apartamentos. Aquele era o futuro que o presidente Kennedy e a corrida espacial haviam ajudado a criar, uma zona residencial organizada de antemão para os parques científicos e os projetos de tecnologia de ponta ainda por surgirem.
Em muitos sentidos, havia algo de quase lunar nos hotéis brancos, freqüentados por criminosos que contrabandeavam haxixe do norte da África, roubavam antigüidades ou fugiam da Scotland Yard. Comparada com a luz sombria da Europa setentrional, a peculiar geometria daqueles apartamentos superiluminados pareciam conduzir-nos a um mundo mais abstrato onde as emoções eram obliteradas. Até o sexo se tornava mais estilizado. Nas tardes quentes, enquanto as crianças dormiam, Miriam e eu tomávamos vinho branco na cozinha. Quando ela ficava docemente embriagada, gostava de fazer sexo no banheiro, assumindo posições de acrobata que via refletidas nos espelhos e no esmalte branco. Ela me olhava sem expressão, como se estivéssemos fazendo sexo numa cápsula a centenas de quilômetros sobre a Terra, concebendo o primeiro representante de uma nova raça de astronautas.
Depois de um ano na Costa Brava, estaríamos totalmente vazios por dentro, com aquela vacuidade mental que eu via nos rostos de turistas depois de apenas uma semana. Antes de sairmos da Inglaterra, tínhamos assistido a Psicose, de Hitchcock, e as secretárias inglesas, com seus biquínis, se comportavam como Janet Leighs que houvessem resolvido não tomar aquela chuveirada crucial, mas já não se lembravam de onde tinham deixado a vida.
- Jim, mexa-se! - gritou Miriam para mim, com os braços cobertos de areia molhada. - Enquanto nos matamos de trabalhar, ele fica deitado como um paxá. Amanhã vamos trazer o barco para cá... as meninas vão ficar impressionadas de verdade...
Construir aquele lanço simples de degraus foi a forma tocante que Miriam usou para mostrar que não estava brincando ao falar de residir na Espanha. Toda manhã, nós cinco saíamos no bote inflável, levando uma cesta de piquenique para passar o dia. Enquanto eu consertava o toldo, costurando a seda rasgada do pára-quedas, Miriam e as crianças limpavam a casa e varriam o pátio. De tarde, depois de uma refeição de frango frio e sangria, cochilávamos à sombra ou nadávamos com as crianças, pulando na água e usando os degraus de pedra como trampolim. Os esquiadores corriam na baía, rádios portáteis reluziam na praia de Santa Margarita e o comandante louco da barca apontava a proa para qualquer nadador de passagem.
Uma semana depois, ao desembarcarmos na ilha, vimos que recém-chegados haviam ocupado nosso esconderijo na praia. Um pequeno Citroen carregado de malas e equipamento de camping havia atravessado as águas rasas da enseada e estava estacionado na areia. Um homem de barba e uma moça de cabelos pretos curtinhos nadavam junto ao píer de Miriam, observados por um homem de seus quarenta anos, de cabelos nos ombros. Nu, ele segurava um livro numa das mãos e um cachimbo na outra.
Hesitantes, as crianças pararam ao lado do carro. Henry apontou para o adesivo colado no pára-choque traseiro, sobre a placa francesa: “Felicidade é ultrapassar um 2CV”.
- O que é um 2CV?
- Um tipo de carro... Vamos falar com eles.
- Por que ultrapassar esse carro é felicidade? Alice pegou a mão de Miriam.
- Eles é que são os canibais? Papai vai brigar com eles?
- Claro que não. Provavelmente a casa é deles.
O carro estava cheio de garrafas de vinho espanhol, pão e uma montanha de brochuras de Kerouac, Henry Miller, Ginsberg e William Burroughs. No bagageiro em cima do carro, incongruentemente, estava presa uma mala cara de couro, coberta por etiquetas de hotéis de Nova York e Chicago. Teriam roubado a mala de algum viajante distraído na estação de Perpignan? Enquanto o homem nu acenava com o cachimbo para as crianças, eu visualizava uma nova espécie de criminoso de praia, que lia On the Road ou Howl enquanto pungava as bolsas das turistas.
O homem de barba na água gritava alguma coisa em francês para as crianças. A porta da casinha se abriu e dela saiu uma moça loura, de pele muito alva, que veio nos saudar. Usava tamancos de salto alto e a parte de baixo de um biquíni creme. Seu rosto tinha uma expressão de elegância meio deixada de lado, como se ela viesse deixando de dar atenção a si mesma. Quando sorriu, o sol brilhou numa imaculada dentadura americana, na qual faltava o canino esquerdo, substituído por uma prótese inglesa de baixa categoria. Entretanto, gostei imediatamente de seu jeito magro.
- Olá... Imaginei que alguns duendes tinham limpado a cozinha. - A moça levantou Lucy nos braços e apertou contra o ombro a menina espantada. - Você é um duende?
- Não! Mamãe...!
- Acho que é. Você andou esfregando, espanando e polindo... Pôs-se a falar com um agradável sotaque da Nova Inglaterra enquanto o homem do cachimbo caminhava em nossa direção. As crianças o olharam boquiabertas, mais perplexas com as cicatrizes em forma de estrela em sua barriga e nas coxas do que com seus órgãos genitais. Imaginei que ele houvesse sofrido ferimentos graves na guerra.
Vendo que éramos ingleses, ele se apresentou:
- Peter Lykiard. Vocês são de Londres? Ótimo. Eu sou professor na Politécnica de Regent Street - Apontou para o casal na água. - Robert e Muriel Joubert, de Nanterre. E essa aqui é Sally Mumford, uma de minhas alunas americanas. Com toda certeza, ela vai roubar seus filhos.
- Estou mesmo pensando seriamente nisso. - A moça repôs Lucy no chão e nos convidou para a sombra. Com um floreio, apresentou um jarro de sangria, tapas e cigarros. O casal francês tomava banho de sol no pátio, e as crianças ficaram a examinar-lhes os corpos nus com os olhos atentos de experientes antropólogos. Durante todos os dias de suas vidas tinham visto a mãe e o pai nus, mas uma anatomia diferente, por menores que fossem as distinções, encerrava todo um universo de intrigantes possibilidades.
Dividindo nossa cesta e a garrafa de vinho com aquele grupo simpático, sentamo-nos debaixo do pára-quedas, enquanto Lykiard contava que vinha a Ampuriabrava todo verão - embora aquele, infelizmente, fosse o último. Em breve os tratores dos incorporadores aplainariam o lugar.
- Essa ilha vai desaparecer, transformada literalmente em cimento. Vão converter a praia em oitocentos metros de hotéis e edifícios de apartamentos. - Apontou para os postes de pinho que, como cadafalsos, os agrimensores haviam fincado nas dunas. - Eu vi em Gerona uma maquete de todo o complexo. Estão planejando juntar as pequenas enseadas com calçadas de butiques e bares, e depois vender os lotes a esses dentistas de Dusseldorf. Daqui a três anos este lugar será um cenário de cinema, com uma série de falsas aldeias catalãs ao longo dos canais.
- Miriam quer que a gente passe a morar aqui... Acha que isso será bom para a minha imaginação.
- Não vejo o que possa sobrar para a sua imaginação. Na verdade, é difícil visualizar os estilos de vida desses renanos sóbrios depois que se instalarem na praia. Quando a vida burguesa bate de frente com o surrealismo, sabemos quem vence.
As crianças gritaram na praia, onde o castelo de areia de Henry resistia às marolas provocadas pela barca. Sally estava de gatinhas, construindo com areia úmida uma detalhada cama de casal, com travesseiros e edredom, sob o qual ela deitou Lucy e Alice, que riam de prazer. Cochilei enquanto Miriam ajudava Lykiard e os Jouberts a descarregarem o carro. Lykiard trabalhava a seu modo descansado, fazendo pausas para reacender o cachimbo e ler uma ou duas páginas dos livros enfiados
debaixo dos bancos. Ao vê-lo pôr a mão, amistosamente, na cintura de Miriam, dei-me conta do quanto nos tínhamos aburguesado, com nosso apartamento de praia alugado, a perua e o fiel bote inflável a sacolejar em cima do reboque. Até mesmo nossa tentativa de limpar a casinha da praia demonstrara a mesma tendência suburbana a um determinado tipo de arrumação. Eu havia sempre achado graça de meus pais por levarem consigo, intacto, um pedaço de Surrey para Xangai, porém agora Miriam e eu estávamos no mesmo negócio de exportação. Os verdadeiros artistas do trapézio ali agora eram os dentistas de Dusseldorf.
Ao crepúsculo, as primeiras baforadas de maconha começaram a engrossar o ar cálido, irritando as narinas das crianças. A contragosto, juntamos nossas coisas e as empilhamos no bote.
- Até amanhã, duendes, voltem mesmo - disse Sally às crianças, que ocupavam seus lugares no bote, já com os coletes salva-vidas. - Vamos limpar isso aqui mais um pouco. Temos de espanar e limpar a praia toda... Vejam como essa areia está suja...
Miriam teve um estremecimento, mas eu simpatizei com aquela animada moça americana. Quando Sally entrou na água, a fumaça do baseado meio frouxo acrescentou seu cheiro ao da noite. Segurando-o bem alto com uma das mãos, ela puxou o bote com a outra. Ao nos afastarmos, vimos que ela nos olhava com um sorriso generoso, embora um tanto irônico.
- Puxa, como me sinto quadrada - disse Miriam, lançando um olhar geral a nosso apartamento, com um cálice de pastis na mão. - “Limpar isto mais um pouco”... Aquilo foi uma indireta para mim.
- Mas de um modo simpático.
- Eu sou quadrada?
- Minha mulher depravada e respeitável? - Apertei-a carinhosamente contra a geladeira. - Miriam, os Jouberts trabalham num colégio de esquerda, e ele ensina literatura moderna numa politécnica particular e cara. Dirigem um 2CV e fumam maconha. Pode haver alguma coisa mais quadrada?
- Você está fugindo de minha pergunta. - Miriam emborcou o pastis e ficou olhando o banco de areia depois do píer, uma mancha pálida ao longo da praia de Ampuriabrava. A fogueira de gravetos que havíamos deixado havia-se reduzido a brasas. - Vamos comprar um pouco de maconha.
- Está bem. Pelo que vejo, você está morrendo de vontade de ser presa por aqueles simpáticos policiais espanhóis. Lembre-se de que Lykiard e seus amigos não têm filhos.
- É isso que me espanta... Ao que parece, eles fazem muita força para ter. Acha que eles dormem uns com os outros?
- Quem se importa? Provavelmente são todos solteiros.
- De certa forma, eu me importo... - Minam fez um gesto brusco para si mesma, com o espírito já voltado para um urgente projeto de recuperação, o resgate daquelas possibilidades que o casamento e a maternidade haviam consignado a algum beco sem saída. Era freqüente eu vê-la a se olhar no espelho do banheiro, como se percebesse que toda a sua vida, o marido e os filhos eram um desvio na estrada principal.
Toda manhã voltávamos à ilha, deixando a praia apinhada de Santa Margarita, com sua névoa de óleo de bronzear e desodorante, que formavam um microclima quase visível. Levávamos o bote para a areia e ficávamos com o grupo sob o esfarrapado pára-quedas. De tarde, o casal francês, ávidos observadores de pássaros, vestia os sáris e saía pelas angras e dunas de Ampuriabrava, com blocos de desenho e máquina fotográfica à mão. Sally nadava com Henry e as meninas, enquanto Miriam ajudava Lykiard a ampliar o pátio, trazendo pedras do quebra-mar.
Observando Sally, surpreendia-me a boa vontade sincera com que ela brincava com as crianças. Estava sempre de galinhas ao lado delas, maquinando brincadeiras e conspirações, missões secretas que as levavam a se embrenharem no capinzal. Miriam me contou que Sally era filha do dono de um magazine em Boston, e que ela conseguira a façanha, rara para a filha de um milionário, de ser expulsa tanto de uma escola particular quanto de um curso superior só para moças. Depois ela partira para o Mediterrâneo, participando da tripulação dos iates de amigos do pai, e tinha ido à Inglaterra para conhecer os Beatles. Parecia fazer questão de não se cuidar, vivendo somente de tapas, sangria e maconha. Achei que, de algum modo, ela desejava vingar-se contra seu próprio corpo.
Miriam me disse também, com a expressão mais natural que pôde, que Sally dormia tanto com Lykiard quanto com Joubert, um dado que ela engoliu inteiro e estava digerindo aos poucos. Mas só quando fomos de carro a Barcelona, para ver El Cordobés e Paço Camino, foi que ela percebeu o lado doentio da mente de Sally e sua vacilante inserção no mundo.
Deixando Lucy e Alice com os Jouberts, em nosso apartamento, partimos Miriam e eu, Sally e Lykiard, em nosso carro. Em homenagem a El Cordobés, sentamos nas primo barreras e compramos doses de conhaque Fundador para brindar ao Beatle das arenas, que escandalizava os tradicionalistas com passes extravagantes e demonstrações de valentia temerária. Henry viajava entre Sally e eu, agarrado a um enorme touro de plástico cujo órgão genital, sussurrou-me Sally, era maior que o dele.
Um dos primeiros touros, desorientados pelos apupos e gritos da multidão de turistas, saltou a barricada e passou correndo perto de nós, com os chifres a um palmo de nossas mãos e cobrindo-nos de saliva. Henry agarrou-se a seu touro de plástico, assustado com os olhos injetados daquela criatura violenta e atemorizante, mas Sally ficou em pé e deu um tapa em suas ancas, sujas de excrementos. Ela usava um vestido claro de seda, e sua transpiração excitada manchava a blusa e as mangas. Agarrou a mão de Henry, assoviando e gritando, animada, enquanto a banda tocava alto e a multidão ululava a cada passe do toureiro. Quando os banderílle-ros sangraram as ilhargas do touro com seus dardos festivos, ela se pôs de pé com um estranho grito gutural, como se fosse uma louca num matadouro.
Embaraçada, aquietou-se quando uma bela íorera, com uma elegante jaqueta negra e calções justos, enfrentou um touro à portuguesa, montada a cavalo. Uma mulher decidida e de traços fortes, maquilada como uma glamourosa gerente de banco, ela fitou a platéia ameaçadoramente e notou Sally de pé junto da barreira. As duas mulheres se entreolharam em meio ao barulho, o cheiro de sangue e o bafio de conhaque. Repetidas vezes a torera esteve para ser atingida pelo touro, que negaceava, mas sempre acelerava os movimentos e se afastava no instante em que os chifres roçavam sua montaria. Durante uma pausa, enquanto o touro se sufocava com a língua, banhado em sangue e fúria, ela se manteve ereta na sela, a não mais que quatro metros de onde estávamos. Sally e eu ouvíamos a enxurrada de insultos obscenos que aquela imponente amazona dirigia aos testículos e à virilidade do touro.
Quando ela desmontou para matar o animal já exausto, a primeira coisa que fez foi cobrir a ponta da espada com a saliva que tirou dos lábios vermelhos, deixando claro que, ao investir contra o touro, ela valeria mais que um simples homem, e que sua saliva era o sêmen com que emprenha-ria a criatura ao prostrá-lo sem vida a seus pés.
Meio inebriado pelo conhaque e pelos gritos da multidão, o que me passava pela cabeça era que, seja era difícil a uma pessoa abordar aquela figura assustadora, mais difícil seria manter relações sexuais com ela. Mas Sally já se decidira. Com o suor a lhe empapar as axilas, ela agarrou a balaustrada de madeira e encarou a amazona como se reconhecesse nela todas as diretoras de escola de sua meninice na Nova Inglaterra. Esperei que ela rasgasse o vestido de seda, saltasse a barreira e montasse no cavalo com suas pernas brancas, enlaçando a cintura da torera, enquanto ambas partiam da arena a galope.
Enquanto El Cordobés se exibia na arena, esqueci-me de Sally, e tal como Miriam e Lykiard, assombrei-me com aquele vistoso pugilista de rua, um misto de gangster e astro de cinema. Como observou Lykiard em meio aos assovios e às palmas, por mais perto que o touro dele se aproximasse, o rapaz jamais saía de onde estava. Apesar de toda a encenação teatral e dos ostensivos insultos ao decoro da arena, ele corria imensos riscos de vida. Depois de esgotar a resistência de seu segundo touro, começou a fazer palhaçadas, humilhando a fera arquejante, que cambaleava em sua direção, ensopada de sangue. Ajoelhou-se de costas para o touro trêmulo, cujos chifres se achavam a poucos centímetros de seus ombros. Abriu os braços para receber os gritos de aprovação da arena, que já começava a ser abandonada pelos espanhóis mais velhos e tradicionalistas.
Quando ele deixava o ruedo, ovacionado por turistas europeus e americanos, vi que Sally subia pelas arquibancadas com o vestido meio rasgado nas costas. Uma hora depois a encontramos no meio de uma balbúrdia em torno do Mercedes preto do toureiro, com a maquilagem meio desfeita, empurrada de um lado para outro por motoristas e guarda-costas zombeteiros. Lykiard e eu a carregamos para o carro, observados por Henry, que, chocado, ofereceu-lhe seu touro. Quando a depusemos no banco traseiro, ela nos bateu com os punhos cerrados, ainda tomada por sua insatisfeita necessidade de algum tipo de clímax violento para aquela tarde. Miriam deu um jeito de acalmá-la, segurando-lhe a mão e limpando a maquilagem que escorria em seu rosto. As duas mulheres estavam sentadas lado a lado, como irmãs que retornassem de um enterro treslou-cado.
Voltando para Gerona, observei pelo retrovisor que as faces de Sally iam perdendo o rubor. Em seu vestido de seda rasgado, ela parecia uma colegial delinqüente a afagar o couro áspero do touro de plástico, forçando os lábios a se manterem fechados e engolindo o sabor fmal de alguma emoção tóxica.
- Eu gosto da disposição dela - declarou Miriam ao chegarmos ao apartamento.-Ela sabe o que quer, vai à luta e consegue. Naturalmente, é completamente louca.
- Talvez ela seja completamente sã... Para gente como Sally, isso é a mesma coisa.
- Jim, ela queria transar com aqueles touros! Não estava nem um pouco interessada em El Cordobés e nos motoristas. Aposto como a pegaram tentando cortar os testículos. Aliás, o que fazem com eles?
- São um prato muito apreciado. Por que não experimentamos? Vamos procurar um bom restaurante aqui em Gerona.
- Talvez... - Na sacada, Miriam olhou para fora, com determinação. -O sexo é um ramo da gastronomia... Os melhores cozinheiros dão os melhores amantes. Toda mulher logo descobre isso.
Eu via o 2CV saltando nas dunas de Ampuriabrava. Sally estava de pé, na capota aberta, atrás de Lykiard, com os farrapos de seu vestido de seda a tremular como flâmulas entre os postes dos incorporadores, uma medusa exaltada a passear por um campo de forcas.
Miriam passou o braço ao redor de meu ombro.
- É estranho, mas eu gosto dela. Você gostaria de ter se casado com uma pessoa assim?
- Eu me casei.
- Eu gostaria de ajudá-la. Ela precisa ter um filho.
- Nisso, só eu posso ajudá-la.
- Você já vai estar muito ocupado com a secretária do Senor Robles. Amanhã talvez seja um dia difícil.
Abracei Miriam, satisfeito por Sally lhe haver despertado a imaginação.
- Meu amor, você sempre quis viver numa ilha deserta com três estranhos.
No entanto, no dia seguinte o humor ensolarado de Sally voltara. Ajoelhou-se na areia ao lado da casa de banhos, com chifres de palha amarrados na cabeça, enquanto Henry fazia passes com uma toalha de praia. Enquanto Miriam dava comida a AUce e Lucy, peguei um punhado de azeitonas pretas e uma garrafa de cerveja e caminhei para as dunas. Sentei-me numa das depressões, tentando delinear a rota que eu deveria seguir para atravessar a baía a nado. Pensando em El Cordobés e nos animais mutilados que esperavam o golpe da espada, imaginei um atônito turista que, num pedalinho, atravessasse uma esteira manchada de sangue. Muito tempo depois que a barca partiu para Cadaques, as ondas por ela provocadas continuavam a bater na praia, como se o próprio Netuno me recordasse que eu escapara por um triz.
Fumando um cigarro, Sally subiu a duna em minha direção. Ainda usava os chifres de palha em torno dos cabelos claros.
- Hora de descansar. - Caiu na areia a meu lado. - Meu Deus, estou morta! Você e Miriam... Deve haver um jeito para essas...
- Nos avise se você descobrir. Estamos exaustos desde 1957. Sally movimentou os chifres de palha no ar.
- Eles são maravilhosos, são mesmo. Tudo vira uma festa. Gostaria que minha infância tivesse sido tão divertida.
Falou num tom de melancolia, e afastou os cabelos que lhe caíam nos olhos, quase como se tentasse pôr fogo nas pontas com o cigarro. Apesar da paciência infinita que demonstrava com Henry, Alice e Lucy, ela tratava mal o próprio corpo, como se ele, criança desajuizada, houvesse deixado de dar atenção aos problemas que iam na cabeça da mãe. Ela roera as unhas da mão até o sabugo, e o bico do seio esquerdo estava ferido e sensível. Um leve odor de substância química subia da nesga reforçada do biquíni, algo como geléia anticoncepcional azeda, e imaginei que já fazia dias que ela estava agitada demais para lembrar-se de trocar o diafragma. Pegou uma azeitona em minha mão.
- Onde fica seu apartamento? Não consigo vê-lo hoje.
- Ao lado do hotel, o do anúncio... Se é que algum incorporador não o tirou dali. Devíamos ter vindo diretamente para cá, com algumas barracas.
- Acampar é fantástico. Eu gosto mais de Gozo... A ilha de Circe, eu bebi em sua fonte. E de Ruanda. No ano passado eu quis morar com os Watusi. - Sally bateu um pouco da areia nas pernas, como a preparar-se para um marido pintado de poeira branca. - Miriam me disse que você morou na China.
- Isso foi há anos. Agora estou na Inglaterra.
- Gosta de lá?
- Estou me acostumando.
- Talvez seja o melhor a fazer. É possível que você tenha necessidade de se sentir um refugiado.
- E você?
Ela fez uma careta em meio à fumaça, num fulgor de dentes americanos.
- Eu fico esperando... Não há muitas estrelas no Oriente hoje em dia. Às vezes acho que tudo é mais ou menos a mesma coisa. Miriam me disse que você quer comprar um pouco de erva. É mesmo?
- Só se você puder me ceder um pouco. Ela acha que estamos ficando burgueses demais.
- É bom para o sexo... - Sally estava deitada de lado, com o peito tocando a garrafa de cerveja em minha mão. Eu via seu bico macio ampliado pelo vidro verde-claro. Ela me passou seu cigarro e ficou a me ver dar uma tragada na mistura mal comprimida de maconha e tabaco. As crianças estavam escondidas atrás do promontório, Miriam trabalhava no pátio, e a praia vazia nos daria todos os avisos que fossem necessários se nos deitássemos no mato ralo das dunas. Sally pegou outra azeitona de minha mão, com os lábios a sugarem meu polegar por um instante. Ela estava me esperando, mas me sentia curiosamente desajeitado, como se não tivesse nenhuma experiência com mulheres. Durante os oito anos de casamento eu tinha sido fiel a Miriam, e conhecia seu corpo muito melhor do que o meu. Se o corpo de outra mulher era um mistério desconhecido, muito mais eram suas emoções e as necessidades.
- Bem, vamos voltar aos monstros. - Sally ficou de pé, limpando a areia das coxas. Sorriu por um momento, apagando sem ressentimento a oferta que fizera de si mesma, e desceu a passos largos para a praia.
Segui-a a uma distância de cinqüenta metros, fazendo uma pausa para lavar do rosto o suor culpado. Surpreendi-me ao verificar que estava tremendo de irritação comigo mesmo - eu era leal a Miriam, ainda que um pouco menos do que pensara.
Quando cheguei à cabana, os Jouberts estavam descendo do Citroen, sobraçando bisnagas de pão e mais tapas e vinho barato, que tinham comprado na bodega. Lykiard dava uma aula de biologia para as crianças, que, em fila, observavam extasiadas um lagarto em sua mão, enquanto Sally fazia uma careta atrás dele.
A marola provocada pela barca de Estartit atingiu a praia. Miriam atravessou o pátio, levando os maiôs e as sungas de banho para lavar no mar. Começou a descer os degraus aos pulos, tropeçou e pisou em falso nas pedras polidas. Sua perna direita virou de lado e ela caiu com força na escada.
O estalo de sua cabeça na pedra fez com que todos se virassem. Quando cheguei à escada, ela jazia semidesacordada, com os olhos fitos em meu rosto, como se não me reconhecesse mais. A perna estava dobrada debaixo de seus quadris, e o sangue corria de um corte profundo no tornozelo.
Lykiard estava a meu lado. Agitava a mão, fazendo sinal às crianças para que se afastassem, e atirou o lagarto ao mar. Levantei Miriam e a deitei de lado, procurando apalpar o osso quebrado. Ainda atordoada, ela se firmou em meu ombro e levantou-se. Tinha o rosto ainda assustado e pálido, com a respiração entrecortada.
- Puxa, foi uma queda e tanto. - Falava sem expressão. - Idiota, aonde eu estava indo?
- Meu amor, você está bem? Sua perna...
- Dói demais. Não se preocupe, Lucy. Mamãe foi uma boba e levou um tombo. Meu Deus, minha cabeça... Eu não devia ter posto todos esses degraus...
Sally e eu a ajudamos a voltar ao pátio e a sentamos na cadeira de vime. Miriam tremia, em estado de choque, com os cabelos colados na cabeça, e segurava a mão de Henry. Tentei firmar seus ombros trêmulos, enquanto Sally limpava o ferimento do tornozelo com um chumaço embebido em água mineral. Ela se virou para beijar Henry, e eu vi o inchaço sobre a orelha direita.
Lykiard tinha posto os jeans e as sandálias. Falou rapidamente aos Jouberts e trouxe uma garrafa de conhaque, mas Miriam a afastou com um gesto. Estava acalmando as crianças, com uma expressão tão assustada quanto a deles. Mantinha os olhos fixos na escada, como se houvesse perdido uma parte de si mesma nos degraus úmidos.
- Acho melhor você levá-la de volta ao apartamento - sugeriu Lykiard.-Nós levamos as crianças de carro. Miriam vai viajar com mais conforto no bote.
Sally e os Jouberts me ajudaram a levar Miriam para o bote de borracha. Partimos, deixando nossa cesta e o equipamento de praia na areia, onde as ondas já quase molhavam as toalhas. Miriam acenou para as crianças, que subiam no Citroen. Ao mesmo tempo, tentava, meio sem jeito, segurar-se aos costados do bote. Durante a breve viagem, parece que o ar marinho a reanimou e ela sorriu para mim, confiante, erguendo as sobrancelhas úmidas, numa expressão de quem pedia desculpas. No entanto, caiu prostrada quando puxei o bote para a areia, e teve de se deitar entre as fileiras de barracas, observada por curiosos, até recuperar o fôlego.
Teve forças suficientes para caminhar até o elevador, mas quando abri a porta do apartamento percebi que ela não reconhecia direito o lugar. Liguei para a recepção, pedindo o número do telefone de um médico, e Miriam foi até a sacada, piscando os olhos ao se virar na direção da praia apinhada.
Uma hora depois, quando chegou o médico espanhol, ela estava deitada em nossa cama. Sorriu ao ouvir as vozes das crianças na sacada dos Nordiunds. O médico a examinou devagar, mas com rigor. Depois, deu-me um tapinha de ânimo nas costas e falou em espanhol com Lykiard. Um enfermeiro ficaria ao lado de Miriam até o médico voltar, de tarde.
Enquanto o enfermeiro se sentava ao lado de Miriam no quarto, fui à cozinha preparar o jantar das crianças, e depois levei a bandeja para o apartamento dos Nordiunds. Quando voltei, o enfermeiro estava ao telefone. Conversava com o médico, e depois me disse que ficasse calmo, ao mesmo tempo em que chamava uma ambulância. Fui até o quarto e segurei os ombros de Miriam. Ela perdera toda sensibilidade no braço e na perna direita, e se recuperava a consciência logo a perdia de novo, sorrindo de leve enquanto parecia voar para longe de si mesma. Fez uma careta para mim com um lado do rosto, levando a mão débil ao corpo entorpecido.
Quando a ambulância chegou, eu já estava em pânico. O motorista e seu ajudante tentavam armar uma cadeira de rodas retrátil. Enquanto discutiam entre si, levantei Miriam da cama e a carreguei nos braços até o elevador. Ela ficou a olhar, sem expressão, as luzes que indicavam os andares, e tinha o corpo frio, como se tivesse passado horas no mar. Com cuidado, nós a levamos para a ambulância, afastando com gestos os turistas, que voltavam da praia. Da sacada dos Nordiunds, as crianças olhavam em silêncio.
Miriam já não as via. Escutei o barulho das portas que se fechavam às minhas costas e vi Lykiard sorrindo sem jeito e sacudindo o punho cerrado para me animar. Ajeitei-me num banco ao lado do enfermeiro, que prendia o corpo de Miriam debaixo do cobertor e regulava o cilindro de oxigênio. Disparamos pela estrada de Figueras, com a sirene aberta, ultrapassando todos os veículos. Massageei as pernas de Miriam, tentando sentir sua pulsação. O oxigênio que saía da máscara secara o suor em seu rosto, que parecia tão encolhido quanto o de Lucy no momento do parto. Somente seu olho direito conseguia entrar em foco, passeando pelas cortinas rendadas das janelas da ambulância. Ela fazia força para respirar, mas o tórax afundara.
Paramos atrás de um ônibus, que bloqueava o caminho para a arena de touros. O ajudante abriu as portas traseiras e discutiu com o motorista, que, bem devagar, deu marcha à ré e saiu do caminho. Chegamos ao hospital dez minutos depois, na hora em que os últimos torcedores deixavam o estádio de futebol. As vendedoras de flores, ao lado da bilheteria, embrulhavam os botões não vendidos e os jornaleiros desarmavam suas bancas de metal. Mas a essa altura Miriam já estava morta.
A gentileza das mulheres veio em meu socorro, numa época em que eu já quase perdera a esperança. Passadas algumas semanas da morte de Miriam, descobri que perdera não só a ela como a todas as mulheres do mundo. Um espaço intransponível me separava de suas amigas e das mulheres que eu conhecia, como se elas tivessem resolvido me apartar do mundo, cercando-me com um rigoroso cordão de isolamento. Mais tarde entendi que elas estavam se mantendo a distância, nos cômodos próximos de minha vida, esperando até que eu houvesse enfrentado a raiva que sentia de mim mesmo. Depois, adiantaram-se e fizeram de tudo para me ajudar. A gentileza das mulheres e o afeto das crianças me permitiram manter meu rumo em segurança naqueles primeiros e longos meses.
Num de nossos últimos dias em Rosas, enquanto os Nordlunds me ajudavam a arrumar as malas, olhei da sacada para os turistas estendidos na praia, representando seus papéis na espectral imitação da realidade em que a vida se convertera. O sol brilhava sobre as mesmas barracas, os mesmos pedalinhos, mas tudo tinha mudado. Durante as horas transcorridas desde a morte de Miriam, toda a raça feminina se transmutara numa espécie diferente. As mulheres que comiam camarões nos restaurantes à beira-mar evitavam meus olhos, conversando entre si e lambendo os dedos manchados de vermelho. Quando fui descontar meu último cheque de viagem, notei que os corpos das mulheres que faziam fila junto ao balcão tinham perdido o perfume. Até a Sra. Nordlund, com seu sorriso constante e sua solicitude com as crianças, me fitava com o olhar de uma assistente social de um país estrangeiro.
Somente a secretária alemã do Senor Robles continuava a mesma. Ao verificar os pertences do apartamento, espreitou no quarto na penumbra, e era evidente que partia do princípio de que Miriam morrera em minhas mãos. Abriu o armarinho espelhado do banheiro e correu os dedos pelos copos.
- Nixkaputt?
- Kaputtnix.
Lançou-me um olhar que eu viria a detestar, uma mistura de curiosidade e distância, como se tivesse testemunhado um crime. Tive vontade de segurá-la pelos pulsos e erguer-lhe os cotovelos, para poder sentir o cheiro de suas axilas, apertar os dedos em sua fenda genital. Eu sentia por aquela moça segura de si aversão suficiente para fazer sexo com ela enquanto as crianças esperavam no carro com os Nordlunds. Queria provar que pelo menos uma mulher ainda existia. Mas ela se afastou de mim e saiu para o corredor, preferindo descer as escadas a ficar sozinha comigo no elevador. Em sua mente, a morte de minha mulher havia soltado um estuprador no mundo.
Rosas e os rochedos serrilhados de Cabo Creus ficaram para trás quando saímos na direção de Figueras e da fronteira francesa. As praias da Costa Brava, os hotéis e bares passavam através de um sonho mais lúgubre que qualquer pintura de Dali, uma visão do fim do mundo percebida em termos de areia poluída, fedor de óleo de bronzear e quilômetros de carne exposta. Passamos pela entrada do cemitério municipal de Figueras e pela longa aléia de ciprestes que levava aos muros caiados e aos pórticos ornamentados dos jazigos de família. Miriam estava enterrada no cemitério protestante ao lado, um ossuário sem flores onde repousavam alguns espanhóis anticlericais, sob lápides modestas, ao lado de um jovem inglês que se afogara num acidente de iate. Olhando para trás pela última vez, virei para o norte na direção dos Pireneus, da França e de casa.
As crianças iam atrás, distraindo-se compulsivamente com jogos até o Canal. Henry estava demasiado aturdido para falar, mas Alice e Lucy logo se encarregaram de tudo. Já estavam mais preocupadas comigo do que com si mesmas. Quilômetro após quilômetro, ajudavam-me com os mapas e escolhiam hotéis para passarmos as noites, vigiando com cuidado a garrafa de uísque que eu segurava entre as pernas. O bom senso e a animação delas lançaram os alicerces sobre os quais reconstruímos a vida.
Enquanto dirigia, eu só me lembrava de meus últimos momentos com Miriam e do serviço religioso no cemitério. A natureza cometera um crime contra minha jovem esposa e seus filhos pequenos, e eu sentia uma raiva funda e confusa, não só contra mim mesmo, por ter levado Miriam a Rosas, mas também contra as colinas cobertas de vinhedos, os plátanos e o gado que pastava. Uma hora depois de haver morrido, uma paz impetuosa tomara conta de Miriam, deitada na sala de emergência do hospital de Figueras. Estava com a cabeça atirada para trás, o peito erguido para cima e os lábios abertos num esgar que expunha os músculos lívidos da boca e da garganta. Sua mandíbula se projetava em minha direção, azulada, os dentes fixos num brado de morte. Ajudado por Nordlund, caminhei até a agência funerária de Figueras, que lembrava uma catedral. Seguimos entre as fileiras de ornamentados ataúdes góticos semelhantes a bancos de igreja voltados para um altar profano, formado por negras lápides de mármore. Pensando em Miriam, julguei adequado que ela fosse entregue à terra num caixão que parecia saído de um filme de terror.
Mas naquela mesma noite, quando voltei ao hospital, Miriam passara por uma completa transformação. Dissipara-se toda a dor e o medo de seus últimos momentos, aqueles em que seu cérebro contundido desabava sobre si mesmo. O rosto havia relaxado, e sua pele estava novamente macia e branca. Uma enfermeira penteara-lhe os cabelos, e seu rosto e lábios estavam pequenos e lisos como os de uma menina, proporcionando-me um último vislumbre de sua desaparecida infância.
No sepultamento, no dia seguinte, o caixão foi levado num carrinho para o cemitério protestante. As rodas de ferro rangiam no chão de terra. As crianças postaram-se a meu lado, em suas melhores roupas, e esperei que jamais escutassem a fúria da morte sob a tampa do caixão. O jovem clérigo espanhol deixou de lado seu inglês trôpego e falou num denso catalão, no passado banido pelo general Franco, cujas consoantes sombrias eram a língua dos mortos, que Miriam agora passaria a falar. Sally Mumford ficou ao lado de Lykiard e dos Jouberts. Nenhum deles tinha coragem de olhar para mim. Fumando seu baseado, Sally olhava para os túmulos como se esperasse que as lajes de pedra se abrissem e os indignados ocupantes saltassem para nos agarrar.
Os coveiros curvaram-se sobre suas pás. As primeiras pedras caíram sobre a tampa do caixão como um punho que golpeasse uma porta.
Nordlund entregou-me uma pá e eu atirei duas pazadas de terra grossa na sepultura. Saímos juntos do cemitério e seguimos de carro entre as multidões de torcedores de um jogo de futebol, como se deixássemos um crime atrás de nós.
Depois de três dias em que atravessamos um país e um mar, chegamos de volta a Shepperton. As longas estradas francesas ajudaram-me a corrigir a perspectiva de meu espírito. O passado, para o qual eu tinha virado as costas desde o dia de meu casamento, se precipitara e estava agora junto de mim. A morte de Miriam me uniu outra vez a todos aqueles chineses sem nome que tinham morrido na Segunda Guerra Mundial. Lembrei-me dos mortos cobertos de poeira ao lado dos carros esmigalhados na avenida Eduardo VII e da boca aberta do escriturário chinês na estação ferroviária, os primeiros ensaios de uma tarde em Figueras. Voltaram-me imagens dos arrozais brancos como ossos, como a luz nacarada que pairou sobre Lunghua depois da explosão da bomba atômica em Nagasaki. Kennedy havia enfrentado Khrushchev, olhos nos olhos, durante a crise dos mísseis cubanos, mas bombardeiros americanos continuavam estacionados sob os céus plúmbeos de Cambridgeshire, e o reino da luz esperava a hora de nascer naquelas faixas de concreto entre os pântanos.
A irmã de Miriam, Dorothy, e seu marido, acenaram animadamente junto ao portão quando chegamos em casa. Tinham presentes e surpresas para as crianças e um assado frio, apropriado para um velório; sobre a mesa, garrafas de vinho abertas. Agradecido, abracei Dorothy com força. No entanto, o eco dos ossos de Miriam no rosto da irmã e a vivacidade do sotaque de Cambridge em sua voz fizeram-me sentir que eu e as crianças tínhamos regressado a um mundo paralelo que tentava, com excessivo esforço, imitar o original.
Enquanto as crianças abriam seus presentes, deixei Dorothy e Brian e subi a escada. Os quartos desarrumados, onde se espalhavam brinquedos e roupas, com ursinhos de pelúcia rejeitados no último minuto, fixavam o momento exato de nossa partida quatro semanas antes. Parei junto da penteadeira de Miriam, olhando para a confusão de escovas de cabelos e cosméticos, uma velha bisnaga de óleo de bronzear, do verão anterior, com a tampa quebrada. Na película de talco que cobria o tampo de vidro estavam gravadas as impressões digitais de Miriam; o fantasma de sua boca persistia na mancha vermelha num amassado lenço de papel.
Abri a gaveta do meio, atulhada de velhas contas de telefone, tampões e boletins de escola, sutiãs desbotados presos por alfinetes de segurança, e seu gorro, durante anos repositório das chaves sobressalentes do carro. Derrubei no chão a cesta de lixo, e examinei as bolas de cabelos e os tubos de geléia anticoncepcional, a liga rasgada e as meias tipo arrastão que ela gostava de usar em festas e mais tarde exibir no quarto, fazendo-se de mulher fatal. Levei as meias aos lábios, sentindo o aroma das coxas de Miriam, o mesmo cheiro corporal que subiu dos travesseiros e me saudou quando abri o guarda-roupa e expus os cabides de seus vestidos. Uma centena de presenças dela enchia a casa como um coro de espectros.
Eu precisava fazer com que fossem embora. Abri as janelas e vi as nuvens de talco e poeira se erguerem no ar, repatriando-se para Figueras. No jardim, as crianças recuperavam seus velhos brinquedos, enquanto Brian cortava a grama. Alice rearrumava os móveis em sua casa de boneca, colocando para fora as mesas e cadeiras de papelão como se ajeitasse a casa na primavera, preparando-se para um novo regime doméstico. Henry tinha achado uma bola de borracha ainda cheia e tentava rebentá-la com os pés, enquanto Lucy experimentava o balanço, lançando-o numa nova altura alucinante.
Observando-os, senti o primeiro sorriso surgir em meus lábios. Eu sabia que as crianças eram mais corajosas do que eu - durante a longa viagem para casa não tinham feito uma única referência à mãe, o primeiro dos muitos de nossos pactos tácitos nos meses seguintes. Sentei-me na cama, sentindo os perfumes do corpo de Miriam flutuar no ar de verão.
Dorothy estava trinchando o assado frio na cozinha. Três anos mais velha do que Miriam e a mais séria das duas, era sócia de uma firma de advocacia em Cambridge. No dia de nosso casamento, havia sorrido e sacudido a cabeça enquanto eu beijava a noiva; era evidente que duvidava de que eu pudesse enfrentar a geniosa Miriam.
Entornei garganta abaixo uma dose de uísque comprado na loja duty-free, e hesitei antes de me servir de outro. Dorothy apertou minha mão, enchendo o copo.
- Vá em frente... Você tem todo direito. Essa viagem de volta deve ter sido supercansativa.
- Nós nos perdemos inteiramente perto de Poitiers. Sabe de uma coisa, foi o francês de Henry que nos salvou. Por um instante, pensei em voltar.
- Devia ter feito isso. Ora, o que estou dizendo? - Dorothy se conteve, surpresa com sua impulsividade.-Brian andou perguntando se você tenciona se mudar.
- De Shepperton?
- Desta casa, ao menos... Você devia começar vida nova em algum lugar.
- Não...-Fiquei vendo Alice e Lucy, que limpavam vigorosamente a casinha da árvore. Uma cachoeira de folhas foi seguida por um velho brinquedo empalhado, companheiro leal de anos, que despencou de cabeça na relva recém-cortada. As mulheres eram impiedosas, desde pequenas, e tinham que ser assim. - Nós já começamos vida nova. Será melhor ficarmos aqui e enfrentarmos as coisas.
- Você vai ficar com as crianças?
- Claro. Isso foi parte do trato.
- Vai ser bastante duro para você. Brian e eu poderíamos ficar com as meninas.
- Obrigado, mas não é preciso. Vamos ficar juntos.
Depois do almoço, Brian saiu com as crianças para o jardim zoológico de Chessington, e Dorothy e eu começamos a arrumar os quartos. Ao guardarmos os brinquedos e as roupas espalhadas, tive a sensação de que éramos contra-regras mudando um cenário. Tudo se inclinava num ângulo pouco familiar. Até as semelhanças entre Dorothy e a irmã, o eco dos malares largos e das mãos pequenas de Miriam, provocavam em mim a impressão de sermos extras a ensaiar uma cena que seria representada por outros atores.
- Quer que eu ajeite o quarto? - Dorothy fitou a penteadeira desarrumada e o guarda-roupa. - Meu Deus, que coisa triste. Jim, jogue tudo fora. Livre-se de tudo. Dê as roupas para alguém que precise.
- Vou fazer isso, não se preocupe. Preciso de um pouco mais de tempo. Foi tudo o que sobrou.
- Não foi, não.
Dorothy segurou-me pelos ombros, tentando puxar-me para o presente. Coloquei as mãos em sua cintura, louco por possuí-la. Depois das mulheres espectrais da praia de Rosas, Dorothy, com seus quadris firmes e os seios fartos, estava inteiramente viva. Apertei seus ombros, buscando os contornos familiares que Miriam me ensinara a reconhecer. Dorothy enrijeceu-se e afastou-se de mim, desconcertada com minhas mãos trêmulas. Depois encostou-se em mim, apertando o rosto contra o meu, acalmando minha agitação.
- Hido bem. Vamos para o quarto de Henry.
- Não... Fique aqui. Na cama de Miriam.
Procurando controlar-me, desfiz o laço de seu avental e passei as mãos por baixo de sua blusa, sentindo a pele lisa e as costelas fortes. Sentei-me na cama desfeita, cujos lençóis ainda tinham os vincos da última noite antes das férias, e mergulhei a cabeça entre suas coxas. Dorothy se manteve calma enquanto eu a despia, encostando de leve as palmas das mãos em meu rosto, correndo os dedos por meu rosto, minha boca. Uma manchinha desconhecida marcava seu ombro esquerdo, mas por um instante consegui acreditar que ela era Miriam. Beijei-a e depois a sentei sobre meus joelhos, acariciando-lhe o sexo como seja houvesse feito aquilo em incontáveis tardes naquele quarto de marido apaixonado. Quando comprimi a boca em seus seios, ela enxugou com a mão o suor de minha testa e me empurrou sobre o colchão de Minam.
Durante aqueles breves minutos, o dever para com os filhos da irmã morta suplantou sua lealdade para com o marido. Ela se ajoelhou em cima de mim, ajustando os joelhos a meu corpo. Exausto e superexcitado, desejando com desespero aquela mulher gentil, tentei introduzir nela o membro flácido. Sorrindo de modo distante mas tranqüilizador, Dorothy tirou-o de meus dedos e começou a massagear a glande entre as mãos. Passando um pouco de cuspe na ponta dos dedos, umedeceu a entrada da vagina. Meteu meu pênis nela, olhou pela janela um carro que passava e levou o seio à minha boca, olhando para mim como uma ama-de-leite que cuidasse do filho febril de uma vizinha. Quando cheguei ao orgasmo e afundei no travesseiro, ela se deitou a meu lado, com a mão em meu diafragma, até minha respiração voltar ao normal. Levei os dedos à sua vagina, provei a umidade doce, para ter certeza de que me lembraria dela nos meses vindouros.
Ela esperou até eu me refazer e me entregou minhas roupas. Sem uma palavra, começou a arrumar a penteadeira, enfileirando os cosméticos e as escovas de cabelos e limpando as marcas de dedos no espelho. Agradecido, abracei-a antes que ela saísse do quarto pela última vez.
A partir daquela tarde, mantive o celibato por quase um ano. Embora as crianças e eu com freqüência visitássemos Dorothy e seu marido, nunca mais fizemos amor. Ela cumprira suas obrigações para com a irmã morta, acalmando o marido viúvo e lembrando-lhe que Miriam sobrevivia em nosso afeto e nossas recordações. Ao nos saudar, Dorothy me abraçava por um instante, mantendo vivo o laço entre a irmã desaparecida e as mulheres que eu viria a conhecer no futuro.
No entanto, por mais que eu precisasse de outras mulheres, era-me impossível aproximar-me delas. Meus amigos faziam questão de convidar-me para suas festas, mas um abismo de tempo e de dor me separava das mulheres que eu passava a conhecer. Calado e sem graça, eu passava por elas num aturdimento de desejo sexual.
Certa vez, de pé entre os casacos no quarto de David Hunter, dei comigo sozinho com uma de suas amigas do clube de aviação, viúva de um sargento da RAF morto em Chipre. Adivinhei que ele lhe atribuíra a tarefa de trazer-me de volta à vida. Enquanto David montava guarda no corredor e simulava discutir os vôos espaciais do projeto Mercury com um jornalista, ela se encostou na porta e puxou-me contra suas coxas. Segurei-lhe os ombros estreitos como se ela fosse uma de minhas filhas, assustada depois de uma queda no jardim. Comprimi o rosto em sua boca e senti seus lábios em minha orelha, os dentes que mordiam de leve o lóbulo. Como não reagi conforme o esperado, ela passou a mão sob a cintura de minhas calças, com os dedos entre minhas nádegas. Puxou para fora a camisa e apalpou-me como se tranqüilizasse um amante ferido. Esperou pacientemente uma ereção, mas depois desistiu com um gesto de ombros, beijou-me alegremente a testa e saiu porta afora.
Teria a natureza, depois de muitas experiências e erros, concluído que eu fracassara como marido e pai e me banira antes que eu pudesse causar maiores males? Na verdade, muita gente achava que eu não devia estar cuidando das crianças. Mas Henry, Alice e Lucy eram tudo em que eu podia acreditar, e eu estava convicto de que poderia fazê-los felizes. Preparávamos nossas refeições na cozinha apertada, seguindo as receitas exóticas das meninas, discutíamos a respeito dos programas de televisão e fazíamos juntos os deveres de casa. Como era Henry que mais se lembrava da mãe, às vezes ele ficava triste, e de noite eu levava o televisor para meu escritório e me sentava com ele no sofá, com o braço em torno de seu ombro enquanto ele assistia às suas comédias prediletas. Certa noite, finalmente eu o ouvi rir.
Cada dia era uma Caverna de Aladim de planos e entusiasmos. Alice e Lucy, de sete e quatro anos, logo tomaram conta de tudo, decidindo quando devíamos fazer compras ou visitar amigos, se eu precisava descansar deles ou se era o momento de dar uma festa. Já estavam a avaliar as mães de seus coleguinhas, instando-me a namoricos e descuidadamente descartando o problema secundário representado por seus maridos. Eu os apanhava de tarde na escola e sentia um frêmito de alívio quando entravam ruidosamente no carro, como se estivéssemos separados havia meses.
O que mais os deixava ressentidos era qualquer insinuação de que havia algo de insólito em nossa família. Muita gente, convencida por sabedoria prática ou rudimentos de psicologia infantil, julgava que a perda da mãe era um trauma do qual nunca se recuperariam, e que pai, por mais atencioso que fosse, poderia vir a substituí-la. Até Peggy Gardner, agora pediatra no Guy's Hospital, em Londres, parecia apoiar esse ponto de vista. Sempre que ia a Shepperton, ela olhava com ar tolerante os cômodos desarrumados, cheios de desenhos e projetos das crianças, como se a bagunça refletisse a profunda crise que atingia aquela família.
Peggy não se casara, apesar de ter muitos amigos e de sua facilidade inata para lidar com crianças. De um modo vago, Miriam sempre a olhara de lado, consciente de que Peggy fora a primeira mulher que eu desejara e que nosso relacionamento ia muito além das possibilidades de sexo. Ao mesmo tempo, sentia-se curiosa, desejando ver o que havia por trás do forte autocontrole que Peggy demonstrava em relação ao mundo. A vida burguesa cooptara Peggy - bom senso, tolerância e compreensão a haviam corrompido completamente.
Seis meses depois de termos voltado da Espanha ela nos visitou, ao voltar de um congresso de pediatria em Bristol. Ainda com seu jeito profissional, de maleta na mão, sentou-se sorridente no sofá, com Lucy a lhe fazer sala. Cercada por toda a coleção de bonecas e ursinhos de Lucy, dispostos em meticulosa ordem de antigüidade, a própria Peggy parecia um pouco um brinquedo. Como sempre, percebi que meus filhos, órfãos de mãe, lhe recordavam nossos dias juntos em Lunghua.
- Que bonito, Lucy. - Peggy sorriu para a fileira de bonecas. - Estou no meio de uma pequena família muito simpática.
- Você não é da família - avisou-a Lucy. - Mas é a mais velha.
- E a mais sabida - acrescentei.
Lucy endireitou um canguru meio cambaio.
- A Sra. Roo é muito mais sabida... ela leu a sorte de papai
- E o que foi que ela disse, Lucy?
- Ele vai viver cem anos.
- Que bom! Eu acho que ele vai viver para sempre.
- Não - disse Lucy, com os olhos nos meus. - Para sempre, não. Mas quase isso...
Depois que Lucy saiu, Peggy sorriu para as velhas e alegres bonecas, como se fossem um modelo de minha própria família.
- Lucy é uma gracinha... Todos eles são. Você tem sido incrível. Como é que arranja tempo para escrever?
- Eles vão à escola.
- Mas, e quando voltam? É uma bagunça contínua.
- Eu gosto disso.-Eu me sentia empurrado para um canto já bem conhecido. - Alguns escritores ouvem Vivaldi. Eu gosto de ouvir meus filhos brincando. Não há nada de anormal nisso.
- Parece que está dando certo. Você tem sido muito corajoso.
- Peggy!-Irritado, tirei o copo de vinho de sua mão.-Pelo amor de Deus, os homens são capazes de amar os filhos.
- Não os que eu vejo no hospital.
- Nunca deram uma oportunidade aos homens. Todas as convenções sociais que você puder imaginar são contra eles, pode acreditar.
- Acredito... Mas é difícil mudar as convenções.
- As mulheres não querem que sejam mudadas. Para embalar o berço basta uma das mãos e elas querem que essa mão seja delas.
- As mulheres que eu vejo estão correndo para a porta da maternidade.
- Estão mesmo? A maioria das mulheres acha que estou errado em cuidar das crianças eu mesmo. Acham que não é natural. Até você pensa assim.
- Não é o habitual.
- Preste atenção nos homens na praia, onde eles podem brincar com os filhos. O que você vê é carinho e atenção, enquanto as mulheres estão ocupadas com a maquilagem.
- Vou imaginar que aqui você está na praia. - Peggy bebericou o vinho, passando os olhos pelos cartazes na parede, desenhos loucos de aviões incendiados, largando bombas nucleares. - Como está Henry?
- Está melhorando. Está muito mais feliz agora. Lemos e brincamos bastante juntos. Eu tento não sair com freqüência.
- Mas às vezes tem de sair.
- Já saí. Parece que as coisas não mudaram muito. Aqui cada dia é uma nova aventura.
- Ainda assim, você não pode passar todo seu tempo como babá das crianças.
Sentei-me no sofá e peguei a mão de Peggy.
- Peggy, não estou sendo “babá” das crianças. Não posso ocupar o lugar de Miriam, nem vou tentar fazer isso.
- Você ainda sente falta dela... Estou percebendo.
- Claro que sim... É tanta coisa que eu gostaria de ter feito por ela. Em muitos sentidos, fui um péssimo marido.
- Ao menos você a amava. Deve pensar nela tanto quanto quiser.
- Eu penso. Não paro de pensar nela, de um jeito esquisito... caminhando pelo quarto em Rosas ou na arena de touros em Barcelona. Sonhos cheios de sangue e touros mortos. Cheguei até a ver Miriam em Lunghua, caminhando pela linha na direção daquela estaçãozinha. De alguma forma estranha, ela estava envolvida naquilo. Em todas aquelas mortes sem sentido, mas que significam tudo.
- Acha que vai voltar a se casar?
- Não são muitas as mulheres que se dispõem a casar com um pai de três filhos. Sempre que vejo um casal, na verdade fico ressentido com eles. Como se tivessem culpa.
Peggy pôs a mão em meu braço. Olhei para seus dedos competentes, em nada mudados desde o tempo de Lunghua. Durante minhas febres, na casa das crianças, ela conversara comigo com sua voz de estudante aplicada, tentando explicar as visões alucinantes do delírio. Apalpei o osso crescido de seu pulso, o côndilo que sofrerá uma fissura no dia em que eu entrara correndo no alojamento e batera a porta em sua mão.
No quarto, as crianças discutiam em cima do tabuleiro de Monopólio. Henry insistia em contornar o tabuleiro no sentido anti-horário. Peggy sorriu, ainda segurando minha mão, mas quando lhe toquei a coxa ela empurrou minha mão.
- Peggy...
- Eu sei. Bem lá no fundo, alguma coisa se agitou. Tenho de ir.
- Passe a noite aqui. Por que não? Ela pegou a bolsa.
- Tenho de voltar para o hospital. Além disso, esses sonhos são apenas para você...
Esperei enquanto ela se despedia das crianças. Teria ela adivinhado que eu me mostraria impotente e decidira poupar minha suscetibilidade?
Tínhamos sido muito íntimos em Lunghua, obrigados a um casamento infantil que revelara demasiados defeitos e limites.
Peggy segurou minha mão, já sentada em seu carro, um dos primeiros a serem importados do Japão, uma escolha de uma esquisitice encantadora.
- Você está ótimo... As crianças cuidaram de você maravilhosamente. Conversei com Alice e Lucy e elas vão fazer com que você saia de casa com mais freqüência.
Fiquei a vê-la se afastar em ziguezague. Evidentemente, Peggy tinha razão: eram as crianças que me estavam educando. Haviam-se reconciliado com o passado muito mais depressa que o pai. Eu tirara os vestidos de Miriam dos guarda-roupas, mas às vezes notava que dedinhos curiosos tinham mexido na bainha de uma saia, através da tampa das malas onde eu os guardara. Certa tarde, enquanto consertava a cerca, percebi que as crianças estavam silenciosas demais. Subi a escada e dei com elas em meu quarto. Tinham achado o vestido de noiva de Miriam, e Alice o vestira, tentando com dificuldade caminhar com os sapatos de salto alto da mãe, enquanto Lucy fazia o papel de dama de honra, segurando a cauda. Henry estava usando meu velho chapéu-panamá e meu smoking. Estourando de alegria, desfilavam em torno da cama, fazendo mesuras para um lado e para outro, simulando uma cerimônia de casamento. Depois Alice deitou-se na cama e fechou os olhos; Lucy e Henry a cobriram com a colcha, pondo-a solenemente para dormir.
Sem uma palavra, desci em silêncio a escada, consciente de que as crianças tinham-se recuperado. Uma hora depois, o vestido tinha sido cuidadosamente devolvido à mala. No carpete do quarto, ao lado de meus chinelos, havia alguns confetes, caídos da bainha.
Minha própria recuperação demorou um pouco mais, retardada pela bem-intencionada recusa de quase todo mundo a fazer referência à morte de Miriam. Meus amigos e conhecidos do mundo editorial mantinham uma conspiração de silêncio, fingindo não notar que Miriam desaparecera através de uma janela do tempo e do espaço. Esse silêncio me recordava a cruel brincadeira de infância na qual fazíamos de conta, sem nada dizer à vítima, que um de nossos amigos não existia mais. O coitado era ignorado, excluído de todas as brincadeiras. Eu invejava os complicados rituais de luto dos chineses, a lamentação pública da viúva, malvista por tantos europeus. Assistindo ao luto nacional do abalado povo americano depois do assassinato do presidente Kennedy, eu quase invejava a esposa solitária. Cada momento de sua dor era interminavelmente repetido e dissecado na televisão. A morte de seu marido, tal como o assassinato de Lee Oswald, era recapitulada em câmara lenta, quadro a quadro, no famoso filme de Zapruder. Ela usava a saia manchada de sangue como um brado de raiva, lançado contra o mundo que a enviuvara.
Certa noite, depois de onze meses de ininterrupto celibato, um editor de Londres, que na época morava em Nova York, levou-me a várias boates de strip-tease do Soho. O homem, o pior tipo de inglês manhattanizado, engoliu às pressas seu linguado e sua garrafa de Chablis, e depois me arrastou de uma boate para outra. No começo tentei fugir dele, mas estava curioso quanto às minhas próprias reações. Em meticulosos estágios de desnudamento, as jovens dançarinas faziam seu número, sorrindo com exagero para os homens emaciados, que se comprimiam nas cadeiras estreitas. Acariciando os seios e as nádegas, masturbando-se ao expor os órgãos genitais durante alguns segundos rituais, elas simulavam luxúria em rotinas tão formais quanto as demonstrações dos procedimentos de emergência realizadas pelas aeromoças pouco antes da decolagem. Esperei que me excitassem, mas as dançarinas pareciam exibir suas técnicas sexuais com todo o fervor de monitores de anatomia que, numa sala de dissecção, descrevessem a estudantes o sistema urogenital.
- Há quanto tempo não vai para a cama com uma mulher, Jim? - perguntou o editor.
- Muito tempo.
- Então já está na hora. Anime-se.
Disse-me que aquela excursão pelos inferninhos do Soho era um aperitivo antes de irmos a um bordel fechado de Westminster que lhe fora recomendado por um criminoso inglês cujas memórias ele estava editando. Mas eu sabia que àquela altura eleja estava bêbado demais para poder fazer outra coisa além de voltar ao hotel. Observando-o enquanto ele devorava com os olhos uma adolescente de olhos de cobra, que afagava o ânus com o indicador, percebi que era aquela estilização do sexo o que mais o atraía, e não o sexo propriamente dito. A exibição de atrocidade era mais perturbadora do que a atrocidade.
Ao deixá-lo na porta de seu táxi, ele pôs a mão pesada em meu ombro procurando entender minha deplorável situação.
- Quem sabe, Jim, talvez você não goste mais de garotas...
Afastando-me dele, passei sob a marquise de um cinema que anunciava o primeiro filme da série Mundo Cão, falsos documentários que habilmente misturavam sensacionalismos forjados com cenas reais de esquisitices humanas. Ao lado do cinema havia uma banca de jornais onde um cartaz destacava um suplemento especial sobre o assassinato de Kennedy, com uma granulada ampliação do fotograma do filme de Zapruder, os últimos instantes do presidente baleado. Perto de Piccadilly Circus, um grupo de militantes do CND angariava apoio para uma manifestação antinuclear que seria realizada em Trafalgar Square. Uma moça gorducha meteu em minha mão um folheto em que aparecia a fotografia de um ataque nuclear simulado, com centenas de voluntários deitados numa rua. Fantasias de morte apocalíptica alimentavam a imaginação daquela gente bem de vida. Eu estava pensando numa bomba atômica diferente, que muitos dos prisioneiros de Lunghua afirmavam ter visto sobre Nagasaki, a bomba que nos salvara a vida. No clarão desagradável diante das vitrolas automáticas, enquanto jovens prostitutas bamboleavam os quadris ao som de Trini Lopez, eu tinha a sensação de que uma terceira guerra mundial poderia ter salvo Miriam, e que uma quarta guerra, a acontecer depois dessa, talvez a trouxesse de volta do túmulo. Uma lógica secreta que eu ainda tinha de explorar parecia ligar sua morte aos mortos da avenida Eduardo VII, como se as necessidades inconscientes da raça humana só pudessem ser satisfeitas num apocalipse sexual obliterador, reproduzido numa infinitude de cenas em câmara lenta. Fragmentos de sonhos desvairados se entrecruzavam no ar noturno sobre os espalhafatosos anúncios de néon.
O fulgor macabro ainda persistia em meus olhos quando deixei as crianças no portão da escola, no dia seguinte. Ao voltar para o carro, comecei a conversar com a mãe de dois meninos da sala de Lucy. Falamos sobre as roupas da festa de Natal das crianças, que ela estava ajudando a desenhar. Ansiosa por me mostrar os desenhos, ela me convidou a tomar um café em sua casa, que ficava perto.
Quando nos sentamos à mesa da copa, a mulher explicou que ela e o marido estavam separados, mas que ele ainda levava a roupa para lavar em casa. Ela parecia ver alguma coisa de engraçado nisso. Logo em seguida, acrescentou que faziam amor na cozinha, enquanto a máquina de lavar funcionava.
- As rotinas domésticas sobrevivem a tudo - comentei. - Eu gosto disso. Acho comovente.
- Você não acha que... - Chegando aonde queria, ela ligou a máquina de lavar. - Por falar nisso, precisa lavar alguma coisa?
- Não... a não ser este lenço.
- Parece meio imundo. Vamos lavá-lo.
Enquanto o batedor se movimentava de um lado para outro e a bandeira branca de meu lenço acenava para nós lá de seu mundo aquático, eu a sentei na mesa da copa, um pouco menor que os palquinhos das boates. A saia curta de couro prendia seus joelhos contra meus quadris. Ela descansou as mãos em meu peito, como se me avaliasse para uma nova vida em que eu estava para me atirar. Senti-me grato por suas alusões naturais a Miriam, que ela conhecera bem, e por tomar a iniciativa com tanta habilidade. Ela havia compreendido que somente uma abordagem frívola, tão distanciada dos sentimentos reais como as boates do Soho e os cartazes do cinema, poderiam atingir-me.
Seus dedos abriram o fecho de minhas calças, e eu disse:
- Espero que aconteça alguma coisa... Faz muito tempo.
- Três semanas? Ou três meses?
- Onze meses.
- Tempo para nascer uma criança. Vejamos o que se pode fazer - disse ela.
Ela desabotoou minha camisa e apertou meu diafragma.
- Meu Deus, como você está tenso... Agora, respire fundo. - Riu com alegria, achando graça em si mesma. - Pelo menos nós nos conhecemos antes. Hoje em dia as pessoas vão logo para a cama e só depois começam a namorar.
- Eu vou namorar você.
- Ótimo. Parece que está acontecendo alguma coisa. Ainda se lembra do que deve fazer agora?
Naquela noite, sonhei com Miriam pela última vez. Eu estava andando por uma rua de Shepperton, a caminho de uma loja, quando a vi parada num sinal de trânsito. Era jovem e bonita como eu a recordava, e fui tomado por uma intensa sensação de amor e de alívio por nos reencontrarmos. Alegrei-me por ter terminado o pesadelo dos últimos meses. Podíamos agora nos juntar às crianças em nossa casinha. Chamei-a quando ela começou a atravessar a rua com firmeza, a saia balançando em seus joelhos. Ela olhou para trás, reconhecendo-me com um sorriso feliz, e continuou seu caminho. Chamei-a de novo, mas ela continuou a andar, passando diante das lojas, e eu a vi sumir entre os carros e os transeuntes.
Despertando do sonho, ouvi o ressonar de meus filhos em seus quartos. Deitei-me no escuro, sabendo que Miriam me libertara.
- Vamos levar os duendes conosco! Não podemos deixá-los para trás! Com uma ruidosa movimentação, Sally Munford levantou Lucy no ar e segurou no colo a excitada garotinha de seis anos, enquanto juntava Alice e Henry nas dobras de seu vestido, que descia até o chão.
- Sally... - Tentei protestar. - Eles são muito pequenos para um concerto de rock. E eu, velho demais.
- Besteira! Vamos todos. Não vamos prestar atenção nele, não é?
- Não!-exclamaram.
- Isso! Vamos pegar casacos e cachecóis, e tapa-ouvidos para o papai. Vou preparar uma cesta de piquenique, se conseguir achar alguma coisa nessa geladeira bolorenta...
Sally assumira o comando. Como sempre, fiquei a olhá-la com indisfarçada admiração, enquanto ela enrolava a saia em torno das coxas, expondo as longas pernas brancas. Acocorou-se, franzindo a testa, diante da geladeira aberta. Tirou dela um presunto, um queijo brie, duas garrafas de borgonha branco.
- Muito bem. Isso é para nós. Mas, e para os monstrinhos?
- Sanduíche de feijão e aquela barulheira dos infernos.
- Não vamos mimá-los. Podem comer presunto.
- Eles detestam presunto.
- Vão adorar! Acompanhado de um copo de vinho? É o primeiro concerto de rock deles.
- Meu também.
- Ótimo. Vou tirar você desta toca com mais freqüência. - Sally estalou os lábios e fez um rápido levantamento do conteúdo da geladeira. Apontou para mim um dedo sujo de queijo, e havia pedacinhos de couve picada em sua boca vermelha. - Jim, você está passando tempo demais em Shepperton. É como se estivesse vivendo num planetinha longe do mundo. Vou levar você de volta à Terra.
Eu adorava vê-la, não importava se era movida a anfetaminas ou a pura extroversão americana. Ela e Peter Lykiard haviam combinado visitar-me, mas Lykiard saíra antes para o concerto ao ar livre em Brighton, na costa sul. O Laboratório de Artes, do qual Lykiard era agora diretor de eventos, ia fazer várias leituras de prosa e poesia nos intervalos, e Sally me convencera a participar, contra minha opinião. Eu não conseguia resistir a seus acessos de entusiasmo e animação.
- Você vai gostar... Burroughs estará lá.
- O figurão. Mas o que vou ler?
- Qualquer coisa. Um de seus contos sadomasoquistas vai cair bem. A platéia é o máximo de convencionalismo.
- Eu também. Sally...
Entretanto, nada a faria mudar de idéia. Ao sairmos de Shepperton na direção do sudeste, senti a habitual pontada de inquietude por deixar a cidadezinha à beira do Tâmisa. Sally tinha razão. Os dois anos que haviam transcorrido desde a morte de Miriam, os jardins e os gramados, tão familiares, tinham sido para mim um consolo, mas a um preço elevado. Eu ia a Londres mais vezes, porém as ruas tranqüilas, como suas casas de tijolos aparentes, sob a sombra dos estúdios de cinema, constituíam o centro de meu espírito. Nos plácidos subúrbios da tevê movia-se uma luz tão serena quanto a que Stanley Spencer tinha visto em Cookham.
Ao mesmo tempo, agradava-me que certas pessoas me tirassem dali. Lykiard e Sally tinham batido inesperadamente à minha porta seis semanas antes. Traziam presentes e muita alegria para as crianças, que quase os tinham esquecido. Para mim, trouxeram uma garrafa de uísque japonês, que Sally já começou a abrir ao entrar pela porta. Lykiard queria que eu escrevesse o texto do catálogo de uma exposição de fotografias do assassinato de Kennedy, mas isso quase não passava de um pretexto para a visita.
Fiquei feliz por vê-los, embora a ilha-esconderijo deles tivesse sido o palco do acidente fatal de Miriam. Vendo Sally saltitando ao redor das crianças, percebi como ela deixara em mim uma lembrança forte. Sem afetação, ela enchia a casa com uma fumaça acre que fazia as narinas das crianças se agitar como asas de borboletas. Deliciava-as com complicados jogos de palavras, inventava famílias complicadas para a tribo de monstros de plástico que representavam a mais recente mania delas, escandalizava-as com mexericos do mundo da televisão, onde ela agora trabalhava como pesquisadora de um noticiário. Quem quer que estivesse ao alcance de sua voz escutava seus comentários excêntricos sobre a guerra do Vietnam, as modas de Carnaby Street, o último absurdo perpetrado pelo presidente Johnson ou pela polícia inglesa. Conhecia mil histórias sobre Dali, em cujo grupo em Port Lligat ela penetrara, e falava do prazer voyeurista dele em espiar casais jovens fazer sexo, sem deixar claro se desaprovava ou não isso.
Só quando seu último comprimido de anfetamina começava a perder o efeito é que ela ficava mais quieta, esfregando os olhos até levar a bolsa e um copo d'agua para o banheiro. Mas sempre me agradava vê-la. Ela me excitava como Miriam tinha feito, e eu sentia inveja de Lykiard por dominar a imaginação caprichosa daquela moça.
Os anos 60 tinham sido feitos sob medida para eles. Em sua sala no Laboratório de Artes, fumando seu cachimbo, Lykiard prendia em murais os mais recentes exemplos de psicodelismos, a última moda em matéria de drogas ou peças de arte conceituai, como um sereno meteorologista a registrar um verão de ciclones inesperados. Seus olhos tolerantes contemplavam atrocidades no Vietnam, cartazes de um artista de cabaré que se automutilava ou catálogos de uma retrospectiva da obra de Artaud, como se ele houvesse posto de lado toda emoção ou mesmo, quem sabe, como se nunca tivesse experimentado essa rara sensação. Para ele, o fim do mundo, o iminente cataclismo nuclear contra o qual manifestantes faziam passeatas todos os fins de semana, seria apenas o supremo happening, o número final e espetacular do teatro da crueldade.
Sally, pelo menos, ainda conservava seus sentimentos, ainda que apertados nos escaninhos errados do espírito. Ela exultava na paisagem volátil de meados dos anos 60, que faziam da lesão psíquica uma virtude. Através dos documentários de tevê que ajudava a montar, as guerras civis na Argélia, no Vietnam e no Congo tomavam-se uma infindável catarse grupal, um sistema psicológico de sobrevivência a que ela podia recorrer entre um e outro barato de anfetaminas. O que a levara a Shepperton tinha sido uma tentativa de compreender melhor tudo isso. Na cabeça de Sally, um bebedor de uísque quase compulsivo, abençoado com um fígado de boi e três filhos, parecia um modelo de retidão quase eclesiástica. Certa vez ela me oferecera sua latinha chata de comprimidos de anfetaminas, mas logo a puxou depressa, como se estivesse a me tentar com o fruto da segunda árvore proibida.
Como eu poderia manobrar para afastá-la de Lykiard? Seu amplo e bagunçado apartamento num caro quarteirão de Bayswater era um museu de necessidades não-satisfeitas. Fotografias empoeiradas de sua mãe, sentada rigidamente no jardim de uma clínica mental particular perto de Boston, pendiam lado a lado de fotos de soldados de botas, tiradas de O Triunfo da Vontade.
- Que homens... a maravilha das maravilhas! - comentou Sally, pensativa, arrumando seus gélidos heróis ao lado do perfil, tirado de uma revista, de sentinelas de um kibbutz em Israel, seu outro sonho sexual.
Ela freqüentava os seminários de Ouspenski, dera um salto de pára-quedas no Clube de Aviação Elstree, detestava o pai, magnata de uma rede de magazines, mas conservava com carinho as cartas que recebera dele quando estava na escola e usava o velho smoking de seda dele como roupão, inalando os impregnados odores de suor e tabaco como um bálsamo curativo. Ingênuo, perguntei se tinham cometido incesto.
- Gostaria que isso tivesse acontecido - refletiu Sally, nostálgica. - Meu Deus, eu queria que ele... eu sei o que significa uma infância solitária...
Durante toda a viagem até Brighton ela brincou, feliz, com as crianças no banco traseiro. Estaria ela, imaginei com esperança, tentando tornar-se uma de minhas filhas? Depois de dez anos do bom senso equilibrado de Miriam, era difícil acompanhar os contornos caprichosos da mente de Sally. Os Hell's Angels que guardavam a entrada do local do concerto usavam os característicos casacos de couro e as insígnias da caveira, porém Sally mal os olhou.
Estacionamos atrás de uma armação de aço que tinha altura suficiente para lançar um foguete espacial, e depois saímos andando entre os ônibus e caminhões da tevê, na direção da barraca de lona dos artistas. Lykiard recebia ali a vassalagem de seus alunos do Laboratório de Artes – moças compenetradas, todas elas artistas conceituais, que tinham os olhares intimidadores de amantes de marginais. Qualquer pessoa com mais de trinta anos era um inimigo, e o fato de ter três filhos me definiu logo como alguém a ser castigado. A presença de Sally me deu um salvo-conduto temporário, que seria revogado, deixaram patente, à mais ligeira demonstração de pendores burgueses, como querer comprar sorvete para as crianças ou usar um mictório fechado. Lykiard informou-lhes que eu ia ler um texto que celebrava a sexualidade aberrante da viúva do presidente Kennedy, e houve uma momentânea centelha de interesse por trás dos olhos pesados de rimei, logo substituída por pétrea hostilidade. Os preconceitos e as marcas de classe sobreviviam intensamente entre os amplificadores e as referências a Warhol.
Entre as súbitas explosões de rock, enquanto os técnicos de som preparavam o equipamento, as crianças murmuravam alguma coisa a Sally.
- Eu também - concordou ela. Entregando a cesta de piquenique a Lykiard, ela localizou uma tabuleta atrás do palco: “Banheiro gratuito”. Uma seta apontava para um grupo de árvores. Como personagens de uma tela de Magritte, as pessoas caminhavam meio desorientadas entre as árvores, cujos troncos recendiam a urina. Burroughs surgiu de repente, por um instante. Com seu terno bem cortado, parecia formal como um agente funerário.
Fiquei a ver Alice e Lucy caminharem com cuidado pela grama úmida atrás de Sally, que levantara a saia comprida. Feliz da vida, Henry regava cada uma das árvores, e sem querer molhou as botas de um Hell's Angel que estava drogado demais para notar. A contracultura era uma descoberta muito além de todos os seus sonhos infantis.
Lykiard mostrou-me o plano do espetáculo e a rampa de tábuas que levava ao mais elevado dos dois palcos. Olhei sem muito ânimo para a torre de andaimes de aço.
- Será que essa coisa vai agüentar? Se um dos parafusos quebrar, todos nós seremos lançados em órbita.
- Acho que o objetivo é esse mesmo. Talvez seja nossa única chance. Vamos encarar a verdade: a faixa da meia-idade nos Estados Unidos seqüestrou para si o programa Apoio. Homens mais velhos do que o gerente de seu banco vão pisar na Lua.
- Mas a coisa vai subir ou descer? - Procurando me acalmar, comprei uma dose de uísque num bar, e depois descobri que o copo plástico não continha nada além de uma mancha castanha.
- Isso não é sujeira - explicou Lykiard. - É a sua medida de uísque. Fume maconha, mas não compre nenhuma erva aqui. Vai encontrar a exploração capitalista no que ela tem de pior. - Apontou para as cadeiras no recinto dos VIPs, sob o palco.-Apesar dos pesares, as velhas estruturas de classe sobrevivem intactas. Os melhores lugares estão reservados para a aristocracia do rock promotores de discos, diretores de gravadoras, gente da tevê e colunistas de música. Atrás deles ficam a classe média do mundo pop, aquelas meninas bem-vestidinhas dos bairros de gente de bem, que só vêm para ver. E no fundo, como sempre, encontramos o proletariado da cultura das drogas...
Caminhando pelas bordas da multidão, chegamos a uma vala larga que marcava o limite do campo, alugado a um fazendeiro. Grupos de rapazes mal vestidos e algumas moças amarelas estavam acampados na vala. A maioria tinha passado a noite ali, dormindo entre as raízes das árvores, em barracas improvisadas de lona alcatroada. Fumando seus baseados, cozinhavam em pequenos fogões dos quais subia uma adocicada fumaça de pinheiro. Lembravam os camponeses chineses que eu tinha visto agarrando-se à vida nas valetas de irrigação de Xangai, durante a guerra. Um deles me ofereceu uma caçarola de mingau. Acocorei-me debaixo da lona e comi a papa condimentada, dividindo com eles o copo plástico de vinho que eu apanhara na cesta de piquenique.
Mais tarde, recuperando-me da leitura, deitei-me ao lado de Sally e das crianças, na encosta relvada atrás do palco. Toda a área, com suas árvores e campinas, lembrava o dia seguinte de um inocente e alegre Waterloo. Sozinhas ou aos pares, as pessoas se estendiam na relva, como se houvessem tombado no campo de batalha, enquanto os sobreviventes se sentavam em seu quadrado debaixo do palco, muitos deles usando as túnicas escarlates, os alamares e galões dourados dos regimentos ingleses clássicos. Senti inveja do domínio que tinham sobre o faz-de-conta. Eu desperdiçara minha juventude dissecando cadáveres e treinando para ser piloto de caça, tentando competir com as realidades do mundo do pós-guerra. Mas os anos 60 haviam, sem esforço, virado a realidade de pernas para o ar. Os meios de comunicação haviam lançado um manto tecnicolor em torno do planeta e depois redefinido a realidade: eles eram a realidade.
Meio sonolento por causa do vinho, fiquei a pensar em mim na instável plataforma sobre a multidão, berrando nos microfones balouçantes. Fragmentos gigantes de prosa amplificada haviam desabado no ar como trechos de geleiras. Ninguém escutara uma só palavra. Meus sonhos sobre a sexualidade da Sra. Kennedy tinham trovejado sobre as campinas serenas, perturbando o gado que pastava em uma dúzia de campos.
- Isso foi uma piada surrealista... à minha custa - falei a Sally, fechando os olhos para esquecer a humilhação. - E não o tipo de piada que Duchamp ou Tzara teriam aprovado...
- Você esteve maravilhoso. Não foi, duendes?
- Foi! - Os olhos deles estavam se abrindo para um mundo novo muito mais rico do que qualquer coisa que Shepperton poderia oferecer.
- Sally, tudo aquilo foi absurdo.
- E daí? Nada mais tem importância. Jackie Kennedy, o Vietnam, os vôos à Lua... são apenas comerciais de TV.
- E o que estão vendendo?
- Tudo o que você precisa... dor, alegria, amor, ódio. Qualquer coisa significa o que você quiser. A única coisa importante são os duendes.
Ela parecia inquieta, fumando uma série interminável de baseados que lhe deixaram os olhos vidrados. Com a garrafa de vinho na mão, passou a tarde andando de um lado para outro, arrastando a saia comprida. O sol lhe avermelhava o pescoço e os seios, e os cabelos pareciam um chicote amarelo que era jogado de um ombro para outro. O festival, que nada celebrava além de si próprio, já a enfastiava. Sally se afastou de nós, e uma hora depois fui encontrá-la num campo muito silencioso, depois do estacionamento. Estava correndo com uma égua negra e dois potros em torno do campo, dando tapas em suas ancas, com os olhos iluminados por alguma recordação da infância.
Quando ela exigiu que fôssemos à praia de Brighton, descobri o que a deixara inquieta. Procurando Lucy na barraca dos artistas, vimos Ly-kiard e uma de suas artistas conceituais deitados numa espreguiçadeira atrás do bar. Sem se importar com Sally, eles se abraçavam, e os dois pareciam se esconder por trás de um único par de óculos escuros. Sally ficou parada, olhando-os, com o tom rosado desaparecendo dos seios. Pegou a mão de Lucy e saiu pelo bar, espalhando os copos de papel com as manchas castanhas.
Felizmente, ela se animou assim que saímos da área do festival e chegamos à praia. A maré que subia e as fortes ondas negras provocaram em seus olhos um brilho irônico. Paramos no acostamento sobre a praia e ficamos vendo as ondas baterem contra o quebra-mar de madeira.
- Sabe de uma coisa? - disse Sally, abrindo a porta do carro - Vou nadar um pouco.
- Sally... O mar está muito forte.
- Eu dou um jeito nele... Não passa de um cachorrinho manhoso. Atravessei com ela a área de cascalho, enquanto ela tirava os sapatos e caminhava até a beira da água. A espuma borbulhava a seus pés, deliciada por saudar aquela moça linda e meio doidinha. Esperei que ela tirasse a roupa, mas Sally entrou no mar como estava, procurando as pedras com os pés nus. As ondas lhe cobriram as pernas, e o vestido colou-se a seus joelhos.
- Sally! - Henry saíra do carro, esquecido do aeromodelo que segurava. As meninas comprimiram o rosto no pára-brisa.
Sally recuou quando uma onda maior precipitou-se contra o quebra-mar. A violenta geléia negra deslizou em torno dela, agarrando-a pela cintura, e puxou-a pelos pés. A espuma a cobriu até as axilas, e o peso do vestido empapado lhe tolhia os movimentos. Sally deixou que a onda seguinte a empurrasse na direção da praia e procurou se firmar, vacilante, na arrebentação, acenando para mim com um sorriso de desculpas. Uma terceira onda a desequilibrou. Sally caiu e foi arrastada por uma vaga gigantesca.
Gritando a Henry que ficasse perto do carro, corri para dentro da água, e a onda bateu em mim com a força de um murro. Recuando, mergulhei contra a onda seguinte e nadei na direção de Sally, que boiava sem nada poder fazer. Agarrei-a pelos ombros, fiquei de pé e puxei-a para a praia.
Sally se sentou no cascalho, exausta e batendo os dentes, enquanto a espuma borbulhava de desapontamento a seus pés, como se o mar estivesse pondo seus ovos e esperando que ela os fertilizasse. As alças do vestido tinham-se partido, e a parte superior estava enrolada em torno da cintura, expondo a pele gelada do torso, coberto de pedacinhos de algas. A maquilagem escorria em manchas azuis. O medo e o frio tinham feito encolher o nariz e o queixo, e ela olhou para as ondas, que vinham terminar junto de seu vestido, como uma criança que recordasse um afogamento no mar.
Transeuntes nos observavam do passeio. Cobri Sally com meu casaco e ajudei-a a voltar para o carro, onde as crianças mantinham um silêncio assustado. Sally afundou no banco da frente, agradecida.
- Muito bem - disse ela às crianças, afastando os pedacinhos de algas. - Quantas distâncias eu nadei?
Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Sally sentou-se no sofá, no meio dos bichos de pelúcia, já de bom humor. Durante a silenciosa volta de Brighton, ela se encostara na porta do carro, embrulhada em meu casaco, com os olhos fixos no vestido, empapado e jogado no chão. No momento, passou por minha cabeça que aquilo poderia ter sido uma fraca tentativa de suicídio, motivada pela cena de Lykiard e sua aluna na espreguiçadeira, ou talvez uma mostra de exibicionismo com o qual ela esperava reconquistar o centro das atenções. Mas quando me referi a Lykiard, Sally quase não entendeu de quem eu falava. Ela quase se afogara somente por causa de um impulso de mergulhar no canal da Mancha.
Vestida com meu roupão, ela aspirou os vapores que subiam de um copo de uísque quente. Sentei-a entre os brinquedos de pelúcia, e ela deitou a cabeça em meu ombro.
- Os duendes estão dormindo? Eu não queria assustá-los.
- Eles estão bem. Acham que você só foi nadar.
- E foi isso! Até o final. Quando você chegou, eu só estava pensando em como seria.
- Afogar-se?
- Aqueles últimos momentos antes do fim... Eu tinha a sensação estranha de que eles durariam para sempre. - Sally se afastou de mim e olhou firmemente para um brinquedo. - É assim que quero viver toda a minha vida.
- Sally, você...
Ela abriu minha mão, leu cuidadosamente suas linhas e depois a meteu sob a lapela do roupão, colocando-a sobre o seio. Apesar do banho quente, sua pele ainda tinha um forte cheiro de água salgada. Uma depravada e inocente Miranda tinha sido lançada pelo mar na ilha de Shepperton. Acariciei-lhe o seio, e ela sorriu para mim com um jeito cúmplice, como se fôssemos duas crianças safadas brincando de casinha.
- Meus mamilos não são muito sensíveis... Com certeza, menos que os seus.
Ficou a me observar enquanto eu a despia, curiosa de ver como eu descobriria seu corpo, atraindo-me com um largo sorriso. Quando afaguei seu clitoris, ela se deitou com as pernas abertas, a cabeça entre os brinquedos macios. Pegou meus dedos e os conduziu ao ânus, bombeando ritmicamente o reto como um macio acordeom.
- Não se dê ao trabalho de me comer. É só me enrabar. Ajoelhou-se no tapete, com o peito e os ombros sobre as almofadas.
Cuspindo na mão, meteu a saliva no ânus com uma das mãos, testando meu pênis com a outra. Hesitei em entrar nela, temendo rasgar seu ânus machucado, mas ela forçou o membro para dentro de si, acrescentando mais cuspe entre os arquejos de dor. Depois que acabei de introduzir todo o membro, ela relaxou, e seu reto ficou macio como a vagina de uma mulher recém-parida. Enterrou o rosto entre os ursinhos e pôs os pulsos nas costas, convidando-me a empurrá-los até suas omoplatas. Eu me mexia com cuidado, tentando controlar o prolapso de seu reto, mas forcei devagar seus braços, como ela queria, afastando os cabelos de sua boca, enquanto ela gritava comigo, uma criança ansiosa e desesperada.
- Mete em mim, papai! Me bate! Essa duende quer ser enrabada!
A partir daquele momento, Sally Mumford tornou-se minha guia para um novo mundo. No começo pareceu ansiosa por criar uma vida nova para todos nós em Shepperton, ser a mulher e a mãe que tínhamos deixado entre os ciprestes espanhóis. Em parte irmã mais velha e em parte bruxinha boa, capaz, na mente das crianças, de prodígios ilimitados. Sally trouxe toda sua vivacidade e seu jeito excêntrico para nosso refúgio suburbano. Tentei acalmá-la e lhe dar força, à medida que ela revivia a infância como um emocionante passeio de montanha-russa. Apesar de eu representar o papel de pai, eu me surpreendia com o grau em que dependia de Sally e desejei poder dar-lhe a infância feliz que ela estava ajudando a proporcionar a meus próprios filhos.
Ao mesmo tempo, eu sabia que podia aprender muito com ela. Sally era uma verdadeira filha dos anos 60, e meu mapa para a lógica secreta que eu via aparecer. Depois de anos de domesticidade em meu encalhado subúrbio à beira do Tâmisa, eu penetrara numa década que começara sem mim. Despertara de um sonho da Segunda Guerra Mundial e caíra numa Inglaterra que parecia ter passado por uma terceira.
Naquele reino feérico, governado por imagens da corrida espacial e da guerra do Vietnam, do assassinato de Kennedy e do suicídio de Marilyn Monroe, ocorria uma singular alquimia da imaginação. Em muitos sentidos, os meios de comunicação nos anos 60 eram um laboratório projetado especificamente para fazer com que eu me livrasse de todas as minhas obsessões. A violência e a pornografia constituíam um estojo de socorros desesperados, que talvez viessem a dar algum sentido à morte de Miriam e à infinidade de vítimas da guerra na China. A rejeição do sentimento e da emoção e a morte do afeto pairavam como um sol mórbido sobre os folguedos daquela década sinistra, da qual Sally parecia possuir a chave. A brutalidade dos cinejornais sobre guerras civis e assassinatos, a violência tele visada, estilizada numa antologia de vinhetas corriqueiras-tudo isso encontrava paralelo na pornografia de uma ciência que não extraía seus materiais da natureza, e sim da curiosidade degenerada do cientista.
Durante o vernissage da mostra de uma artista que estava em evidência, no Laboratório de Artes - uma exposição de toalhinhas higiênicas usadas -, apresentei Sally, orgulhoso, a Dick Sutherland, que deixara Cambridge e agora dirigia uma equipe de pesquisa no Instituto de Psicologia. Nos difíceis meses depois de nossa volta da Espanha, ele se mostrara um amigo generoso. Muitas vezes, de noite, ia a Shepperton, com garrafas de bourbon e as últimas histórias de suas viagens por Cabo Kennedy, Tóquio ou Los Angeles. “Você vai ganhar essa parada”, dizia-me, confiante. A televisão o mantivera jovem. Viajando de um lado do mundo para outro, com sua equipe da BBC, ele se tornara um dos mais importantes “pensadores de aeroporto”, sempre às ordens para uma entrevista na sala VIP.
Sally simpatizou logo com ele, e Dick percebeu que ela era tudo de que eu precisava: pouco convencional, afetiva e depravada. Quando nos convidou a visitar seu laboratório, lembrei-me de que eu havia conhecido Miriam ao me apresentar como voluntário para uma falsa pesquisa. Sempre o mesmo, Dick ainda brincava com a ilusão e a realidade. Conduziu-nos num giro pelo laboratório, encantou Sally com uma série de bem ensaiados truques e paradoxos óticos, e nem por um instante deixou de lado sua conversa cativante de sempre. Seu verdadeiro talento, percebi, consistia em fazer com que todos aqueles a quem ele era apresentado se sentissem num programa de televisão.
A paixão de Dick pela televisão o tornava um verdadeiro cidadão dos anos 60, tanto quanto Sally e Peter Lykiard. Fascinava-o a maneira como a te vê teatralizava tudo, ao mesmo tempo em que mantinha qualquer coisa firmemente ancorada no doméstico e mundano. Desde que deixara Cambridge, ele jogara pela janela o passado e começara a flutuar livremente naquele reino eletrônico que, como um céu amável, ensinava os espectadores a se admirarem. Num momento em que baixou a guarda, falou-me de sua infância na Escócia, filho de um austero arquiteto de Edimburgo e de uma devotada presbiteriana. Sua estada com parentes na Austrália, durante a guerra, lhe abrira os olhos para os encantos de uma cultura praieira onde o afeto e a aprovação provinham não da família, mas do mundo que a rodeava.
Não era de surpreender que Dick nunca houvesse se casado. Sem a presença perpétua do ponto eletrônico e do monitor de tevê, um relacionamento íntimo teria parecido um pouco irreal. Entretanto, a consciência que ele tinha de seus próprios defeitos o tornava um astuto psicólogo, e ele era um manancial de idéias, muitas delas à minha custa. A casa de Shepperton nunca deixava de intrigá-lo.
- Já esteve na casa de Jim em Shepperton, Sally?
- Claro. É um santuário.
- Sem a menor dúvida. A caverna primal de Freud, acarpetada de parede a parede e decorada com um milhão de anos de amor. A longo prazo, os subúrbios triunfarão sobre tudo, embora seja difícil dizer se os subúrbios são a zona de convalescença de uma cidade ou uma espécie de jardim zoológico onde os animais podem ser acariciados. Na verdade, talvez seja o lugar onde uma cidade sonha... Jim é como uma pessoa no limiar do sono REM. Mas eu vou lhe mostrar todo o laboratório antes que ele acorde. Nada é exatamente o que parece ser. Como a própria realidade, de certa forma...
Num auditório às escuras, um grupo de voluntários, formado por donas de casa, secretárias e bombeiros de folga, olhavam fotografias de homens e mulheres projetadas numa tela, procurando identificar quem eram os assassinos e as vítimas.
- Na verdade, são fotografias dos integrantes do grupo anterior - sussurrou Dick a Sally. - As pessoas têm preconceitos extraordinariamente fortes com relação a certas características faciais. As mais insignificantes pistas as convencem de que estão diante de um estuprador de crianças ou um assassino da Gestapo.
Em outra sala, um segundo grupo de voluntários preenchia um questionário confidencial sobre o efeito de cinejornais violentos sobre sua vida sexual.
- É claro que não existe influência alguma - garantiu-nos Dick -, e as cenas que exibimos para eles são muito menos violentas do que dizemos que serão. Mas o interessante é que a maioria das pessoas imagina que esses noticiários melhoram sua vida sexual. Todo mundo diz que há excesso de violência na tevê, mas secretamente querem mais.
- Ou seja, graças à tevê tudo é o oposto do que parece ser? - perguntei.
- É o que parece. - Tínhamos voltado para o escritório de Dick, que se refestelou em sua cadeira, descansando os tênis sobre a mesa, dando a Sally oportunidade de admirar-lhe as pernas compridas e o perfil de ator. - Na política, isso se torna evidente. Estudamos as aparições do governador Reagan na tevê da Califórnia. Pode-se ver que todo aquele palavreado direitista dele é o oposto de sua tranqüilizadora linguagem corporal. Mas as pessoas acreditam na linguagem do corpo... Em geral já avaliamos uma pessoa muito antes que ela abra a boca. Achamos que Reagan sabe disso, graças à sua experiência de ator em Hollywood. Toda a sua carreira política é uma longa e única seqüência de efeito, com uma fala irrelevante superposta, como se pode provar apagando a trilha sonora e pedindo às pessoas que adivinhem o que ele está dizendo. Elas confiam no jeito dele, de locutor esportivo cordial. Por outro lado, quando ele está no palácio de governo, em Sacramento, ele tem seu mandato...
- Está dizendo que Hitler não devia ter gritado alto, mas agido como... um leão covarde?
- Exatamente. Os sistemas totalitários do futuro serão dóceis e subservientes, e por isso mesmo mais ameaçadores. Mesmo assim, sempre haverá lugar para a mais desvairada loucura. De certa forma, as pessoas precisam disso. Nosso mundo agnóstico mantém os feriados religiosos para atender às exigências de folgas de sua força de trabalho. Do mesmo modo, assim que a medicina vencer as doenças, certas perturbações mentais serão imitadas por motivos sociais... Eu apostaria na esquizofrenia. Ela parece representar a idéia que o louco tem na normalidade.
- Não será o contrário?
- É provável que não. Uma doença que nos massageia o ego goza de imensa vantagem, como a maioria dos problemas venéreos. - Dick ligou o projetor de cinema atrás de sua mesa. - Já que estamos falando de esquizofrenia, estivemos revendo alguns filmes alemães feitos durante a guerra, e que estavam no porão. Uma das latas contém um filme de instrução da SS, sobre construção de pontes de campanha.
Satisfeito com a atenção que ela lhe dava, Dick baixou as venezianas, relutante, pois não lhe agradava colocar-se em segundo plano.
- Talvez devêssemos exibi-lo no Laboratório de Artes. Eu gostaria de fazer uma apresentação prévia.
Ficamos a bebericar um vinho na sala de Dick, mergulhada na penumbra, cercados por placas de carros americanas e fotografias dele pilotando seu Cessna, enquanto o filme da SS era projetado. Seria aquele filme mais uma falsificação? Parecia de um realismo convincente, e Sally segurou com força meu braço, magnetizada com os rapazes fortes e de pele branca que entoavam canções de trabalho. Dick sorriu para si mesmo, murmurou alguma coisa ao telefone, atendendo à ligação de um produtor da BBC, e observou Sally com aprovação. Parecia satisfeito por eu me ter tornado amante daquela moça arrebatada, pensando na impetuosa atividade sexual que teríamos naquela noite, quando Sally repassasse mentalmente o filme.
Quando saímos, ele sussurrou:
- Ela é a pessoa certa para você, Jim. Exatamente do que você precisa.
Embora Sally dependesse de mim, em muitos sentidos eu era seu aluno, e a lição mais importante que ela me deu aconteceu na festa de réveillon que ela organizou em seu apartamento de Bayswater. Por alguma razão, aquele lugar sempre me deixara inquieto, por estar abarrotado com os destroços do passado de Sally, como aquelas casas abandonadas em Xangai, durante a guerra, onde o tempo dos relógios ficara suspenso por um período excessivamente longo, e às quais, ao voltar, uma pessoa se confrontava com o estranho invisível que era ela mesma no passado. Pus-me a caminhar pelos tapetes persas manchados de vinho e cinzas de cigarros, entre os sofás com suas capas sujas, que cheiravam a incenso velho, e pensei em meus filhos, que dormiam em Shepperton, enquanto a babá de meia-idade lia seu guia de viagem sobre Belize.
No dia seguinte Sally estaria lavando os cabelos de Alice e ajudando Lucy a coser roupinhas para seus bonecos. Agora, porém, ela cambaleava, com um punhado de anfetaminas na mão esquerda, entre os cartazes de Marat/Sade e as gigantescas fotografias de anões de Diane Arbus, berrando para Peter Lykiard no momento em que ele chegou com uma artista japonesa, muito pintada, que recentemente lhes filmara as bundas.
Orgulhosa, Sally segurou meu braço, soluçou e deixou um floco de vômito em meu ombro. Recuperou-se com um gesto largo, lavou a boca com um copo de vinho e beijou-me rapidamente nos lábios.
- Jim, achei uma crepe-da-china maravilhosa! Lucy vai adorar... E com isso se afastou, oscilando de um lado para outro como um ginasta que se exercitasse nas argolas.
Pouco antes da meia-noite, lembrando-me da babá, resolvi voltar para Shepperton. Procurando Sally, abri caminho em meio ao barulho e à fumaça. Alguns casais se abraçavam entre os pratos sujos na cozinha, e na cama de Sally seis convidados faziam uma festa dentro da festa. Dois acólitos da artista japonesa tomavam um banho de chuveiro. Procurei nos outros quartos e no outro banheiro, cheio de trastes velhos de suas amigas da escola de arte, e depois dei uma olhada em seu pequeno quarto de vestir.
Quando cheguei à porta, Peter Lykiard me pediu um cigarro. Era evidente que procurava desviar minha atenção, como se eu fosse uma criança prestes a entrar no quarto dos adultos.
- Sally está ocupada, Jim... Antes que eu me esqueça, gostaria de lhe falar sobre aquele filme da SS. Dick Sutherland está ansioso por fazer uma apresentação...
Afastando-o, abri a porta. Sally estava sentada no tampo acolchoado da cesta de roupa suja, com a saia erguida até a cintura. Suas pernas nuas comprimiam os quadris de um jovem fotógrafo espanhol que tínhamos conhecido de passagem do Laboratório de Artes. As calças do rapaz estavam no chão, e suas mãos fortes tinham baixado a parte de cima do vestido de Sally, expondo-lhe os seios. Com movimentos desajeitados e quase abstratos, ele e Sally pareciam ensaiar um pornográfico número circense, no qual davam um jeito de trocar de roupas durante um intenso ato sexual. Enquanto ele lhe sugava o seio direito, Sally beijava sua testa, com as pernas fortes puxando para dentro de si o membro do rapaz. Ao me ver, ela se segurou nos ombros do espanhol e me dirigiu um sorriso franco e feliz.
Enquanto eu dirigia de volta a Shepperton, pensei no afeto de Sally por mim e nas mil gentilezas que ela dispensava às crianças. Separados por aquele sorriso tolerante, coexistiam um amor profundo e a mais indiferente deslealdade. Lembrei-me de ter visto os Vincents fazendo sexo, com o jeito cansado deles, em tardes de sábado em Lunghua, e na expressão dos olhos da Sra. Vincent quando percebia que eu os espionava por uma fresta da cortina. Tive a impressão de que Sally se expusera a mim deliberadamente, instando-me a dar o próximo passo em minha educação não-sentimental. Sally me atraíra porque oferecia uma chave para aquela década estranha, mas o único elemento estável em seu mundo era a instabilidade. Isolando minhas emoções, separando o sentimento da ação, talvez eu viesse até a aprender a apreciar as infidelidades de Sally.
Pensei no dia em que ela quase se afogara em Brighton, quando me permitira tirar das ondas uma segunda esposa. Eu ainda sentia a força sinistra das vagas escuras que me haviam socado as pernas e o peito quando penetrei nas águas fundas que eram a morada da morte, a espuma negra através da qual eu a arrastara para a praia.
Imagens de dor e de raiva flutuavam livres, como os cartazes que anunciavam as mortes intermináveis do presidente assassinado, mensagens de violência e desejo, as únicas capazes de consolar os enlutados.
Velozmente, eu deixava para trás os faróis que vinham em sentido contrário, atravessando o Tâmisa enluarado e indo em busca da Shepperton adormecida nos sonhos de meus filhos.
Pense no LSD como uma visão caleidoscópica do olho humano. Eu estava em meu escritório, ouvindo Dick, junto da janela aberta. Olhava para o copo de água em minha mão e o cubo de açúcar exposto ao lado do gravador da BBC. O papel laminado emitia um brilho lúgubre.
- Estamos prontos, Dick? - perguntei, olhando para trás. - Isto está começando a me dar a sensação de uma tentativa de suicídio.
- Um momentinho só... Você vai subir ao céu mesmo... - Dick ajustou o tripé da filmadora, apontando a objetiva, pequena, mas feroz, para meu rosto. Senti raiva da máquina, que me fitava como um robô deformado. A luz do verão banhava o jardim, brincando com os brinquedos quebrados e os varais onde balouçavam pijamas... a habitual bagunça que eu propusera arrumar. Mas Dick insistira, obstinado, em que eu não mudasse nada.
Enquanto tomava um pouco de água, notei a cabana destroçada que Alice e Henry tinham construído com um velho cobertor escocês e uma estacada de pepinos. Banida de seu sombrio interior por haver violado algum ponto do protocolo infantil, Lucy demolira a cabana com seu carrinho de pedal. Os outros dois tinham prometido uma vingança terrível, esquecida no instante em que Cleo Churchill e sua filha Penny chegaram à porta. Amigas de Dick, elas iam levar as crianças para passear no rio, enquanto ele e eu embarcávamos numa viagem só nossa, um breve safari por meu cérebro.
- Dick, o jardim está uma vergonha... Eu tenho de limpá-lo. Vamos ver as coisas com clareza. Os espectadores de seu programa na tevê não vão estar baratinados.
- É exatamente isso que faz os índices de audiência subirem. Vou sugerir isso à BBC. Eles podem pôr os programas bonitinhos no Radio Times.
As quatro crianças gritavam no vestíbulo, pedindo sorvetes, revistas em quadrinhos e goma de mascar. Cleo Churchill meteu a cabeça na porta e fez uma careta.
- Está começando uma guerra. Vou ter de deixar vocês.
- Tudo bem, Cleo. Jim está ansioso por viajar. Só precisamos de algumas horas.
- Duas horas? Vocês deviam filmar a mim. - Cleo fechou a cara para a filmadora e o microfone, o aparelho de pressão e minha cadeira de encosto reto.-Jim, o aspecto disso é horrível... Tem certeza do que quer?
- Não se preocupe. Dick já monitorou várias viagens.
- Ainda assim... Nunca confie no barqueiro.
Eu percebia que ela não aprovava aquilo, partindo do princípio de que já havia no mundo emoções adultas de sobra. A experiência com minha química cerebral que Dick e eu íamos realizar era uma brincadeira infantil muito pouco diferente daquelas que Henry fazia no jardim quando acendia um toco de cigarro dentro da cabana ou explodia uma caixa de fósforos. Cleo, que tinha um sorriso fácil e um encanto acanhado, trabalhava numa editora de livros infantis, e às vezes eu a via nas festas de Dick. Percebendo, meio sem graça, sua aflição, entendi que ela se preocupava com alguma coisa além das credenciais de Dick. Ao tirar a mão, com relutância, de meu ombro, ela desviou o olhar das gotas de suor em minha testa para a confusão que reinava em meu escritório e no jardim. Além de qualquer receio com relação à conveniência de se fazer experiências com LSD havia uma avaliação rápida de minha personaüdade e das deficiências que aquele alucinógeno potente poderia vir a expor.
- Muito bem... - Dick ajustou seu relógio de aviador e ligou o gravador. - São três e cinco da tarde de 17 de junho de 1967...
Encontrando o olhar de advertência de Cleo, pus o cubo de açúcar na língua e deixei-o ali, numa certa exibição de desafio. No momento em que as crianças saíram pela porta da rua e correram para o portão, tive uma última hesitação. Depois que Cleo saiu, batendo a porta, engoli um copo de água.
- Isso - disse Dick. - Você vai sentir alguma coisa daqui a mais ou menos meia hora. Fique calmo e relaxe. Podemos jogar xadrez.
- Vou dar uma olhada no jardim.-Em geral eu conseguia derrotar Dick no xadrez, mas aquela seria uma partida que ele apreciaria perder, à medida que as peças se transformassem em dragões. Ouvi as vozes das crianças na rua, seguidas pela voz firme e jovial de Cleo. Também ela criava a filha sem um pai, e dera a entender que eu não estava procedendo como de hábito. Em geral um pai responsável, eu me dispunha a tomar aquela droga questionável, que, embora ainda legal na Inglaterra, vinha sendo alvo de freqüentes pedidos de proibição.
Olhei para o jardim cheio de brinquedos espalhados, um depósito de recordações felizes que os últimos três anos haviam acumulado naquela área suburbana. A geleira tinha avançado, com Miriam a dormir serenamente em suas profundezas. As crianças estavam quase esquecidas da mãe, uma coisa que eu tentara evitar, erradamente. Tinham bom humor, ânimo e confiança na afeição que lhe dedicavam.
O estranho era que Miriam começara a se afastar até mesmo de mim, ao mesmo tempo em que se destacava com mais nitidez em minha memória. Parecia a imagem de uma madona suspensa sobre a nave de uma catedral, erguendo-se no ar à proporção que eu me distanciava dela. As linhas de fuga de minha vida ainda me levavam a Miriam, mas eu devia muito às mulheres que conhecera desde a sua morte, e principalmente a Sally Mumford, que me ajudara a enfrentar as pressões da dor e da sexualidade obsessiva. Curiosamente, as infidelidades ostensivas de Sally haviam ajudado a aliviar minhas lembranças de Miriam, como se sua morte tivesse sido um tipo especial de infidelidade.
No entanto, Dick não demonstrara interesse em que Sally estivesse presente quando se ofereceu para supervisionar minha experiência com o LSD. As repentinas mudanças de humor dela, seus entusiasmos desconexos, poderiam fazer descarrilar a locomotiva alucinatória. Disposto à experiência, à exploração das portas fechadas do inconsciente, eu concordara com que Cleo Churchill cuidasse das crianças. As anfetaminas e outras drogas que eu às vezes provara pareciam alterar a mente menos que a média dos uísques duplos, mas Dick me garantiu que o LSD atingia os limites do cérebro.
Lembrei-me de sua exposição ao diretor dos programas de ciência da BBC, enquanto ele definia a projetada série de que eu participaria. Confiante, como sempre, de que dominava a atenção da platéia, ele se movimentara em torno de seus desenhos de partes do cérebro e de seus eletroencefalogramas como um representante comercial que estivesse vendendo o cérebro humano a um grupo de intrigados visitantes de outro planeta.
- O sistema nervoso central é a Capela Sistina da natureza, mas é preciso compreender que o mundo que os sentidos nos apresenta... esta sala, meu laboratório, nossa percepção do tempo... é uma construção mal-ajambrada que o cérebro criou para permitir que realizemos o trabalho de nos manter e reproduzir a espécie. O que vemos é uma imagem altamente convencional, um guia turístico simples de uma cidade muito estranha. Temos de desmontar essa construção malfeita a fim de entender o que realmente acontece. O espaço visual que ocupamos não coincide verdadeiramente com o mundo externo. As sombras são muito mais densas do que nos parecem. O cérebro dilui os contrastes fortes para podermos analisá-los com mais clareza... De outro modo, o mundo seria um emaranhado de listras zebradas...
“A consciência é o jogo, corajoso, do sistema nervoso central para provar que existe, um artifício que lhe possibilita passar por cima do ambiente interno e do externo. Na verdade, estamos começando a pensar que o próprio tempo é uma estrutura psicológica primitiva que herdamos do passado distante, juntamente com o apêndice e o dedinho do pé. No entanto, estamos inteiramente presos nessa estrutura arcaica, minutos e horas que desfilam um atrás do outro como uma procissão de cegos. Quando temos uma idéia mais desenvolvida do tempo... digamos, do tempo percebido como uma simultaneidade... chegamos ao limiar de um universo mental muito mais amplo...
“Por que os moribundos julgam estar flutuando através de túneis? Numa situação de extrema pressão, os vários centros cerebrais que organizam uma visão coerente do mundo se desmantelam. O cérebro explora seu campo de visão que desmorona e monta, com as últimas células, aquilo que ele espera, com angústia, que seja um túnel de saída. Até o fim, o cérebro procura, a todo custo, racionalizar a realidade... Quer ele esteja faminto de dados ou inundado de insumos sensoriais, ele constrói estruturas artificiais que pretendem dar sentido ao mundo. Disso provêm não só as sensações dos moribundos como também nossas visões do céu e do inferno.
Todos tinham ficado impressionados, mas a BBC preferiu não comprar a série.
- Dr. Sutherland - comentou o diretor dos programas de ciências -, a descrição que o senhor acabou de fazer do cérebro dos moribundos é mais parecida com a BBC do que com qualquer outra coisa...
- Dick, meu relógio parou.
- Vamos ver. Não, são 3:45.
- Deve ser mais...
Olhei para o imóvel ponteiro dos minutos e tentei dar corda ao relógio. Meus dedos pareciam sensíveis como os de um relojoeiro, mas tive a súbita sensação de que pertenciam a outra pessoa. O ponteiro dos minutos moveu-se novamente, e depois se deteve por mais um instante indefinido. Uma forte luz rubi banhava o jardim, como se a temperatura do sol tivesse começado a baixar. Cheguei-me para a frente, quase caindo da cadeira, e fitei o vivido azul de cianureto do céu.
- Sente-se e relaxe. - Dick estava de pé atrás de mim, com as mãos em meus ombros. - Você vai sentir uma leve irritação na retina.
- Dick, estou entrando e saindo do tempo.
- Isso começou já há algum tempo. Olhe para ojardime veja como estão as cores... É provável que estejam descendo no espectro.
Afastei as mãos de Dick, e fiquei a imaginar se aquilo não seria mais uma de suas brincadeiras. Ele sempre tivera um forte espírito de competição, e me invejara tanto por Miriam quanto por minha educação na China. Havia em seu rosto uma expressão insatisfeita, que eu me lembrava de ter visto em seu escritório em Cambridge, como a de um pescador que houvesse fisgado um peixão inesperado e não tivesse seu bicheiro à mão.
Os carreteis de gravador estavam rodando, mas notei que giravam em direções opostas. Imaginando que aquele gravador fosse outro dos antiquados equipamentos da BBC, esperei que a fita começasse a se desenrolar no ar. O gabinete de plástico preto tinha se separado do aparelho, mas antes que eu pudesse avisar a Dick, ele se afastou, indo na direção da filmadora.
As cores estavam se soltando das superfícies que me rodeavam. O ar de verão se transformara num prisma translúcido e as hastes de grama eram tocadas por uma camada de luz esmeraldina. Os gigantescos girassóis que eu plantara para Alice e Lucy tinham sobre si coroas de ouro que os puxavam na direção do céu. Uma névoa de densa coloração rubi impregnava a folhagem das cerejeiras. A pintura escarlate do carro a pedal de Lucy estava a se dissociar do metal arranhado, como uma carapaça fulgente que algum técnico hábil tivesse pintado no ar e que eu queria repor sobre a estrutura oxidada.
O jardim malcuidado coruscava com uma luz química. A macieira e a casinha em seus galhos formavam uma catedral do tamanho de um chalé, os ramos constituíam um vitral no qual os brinquedos quebrados se achavam incrustados, cercados por seus próprios halos. Os desenhos de dragões do tapete chinês sob meus pés, a casca áspera da pereira, marcada com as iniciais de Henry, os mourões cobertos de creosoto da cerca - tudo emitia a luz presa em seu interior. O véu esverdeado de cada folha e cada caule, o escarlate do carrinho de Lucy, eram peles destacáveis sob as quais a folha e o carrinho reais esperavam ser descobertos. A luz do sol e seu espectro radioso eram vistosas flâmulas que comemoravam a identidade da mais ínfima pedrinha ou graveto. Refratados pelo prisma de suas verdadeiras identidades, as folhas e as flores eram janelas canden-tes.
- Jim, olhe para a câmara...
Dick sentou-se na poltrona a meu lado, com o gravador no colo. Os carreteis ainda giravam em direções opostas, mas nenhum pedaço de fita se emaranhara. À medida que a luz no jardim ganhava intensidade, tomei consciência do notável brilho dos cabelos de Dick. Alguma maquiladora mais ativa dos estúdios lhe pusera na cabeça uma peruca acobreada que descia até os ombros. A luz escorria por seus fios, e eu quis avisar Dick de que os espectadores perceberiam todas as sardas e manchas em seu rosto. O sangue corria através dos inchados vasos capilares, transformando suas mãos e seu rosto num atlas inflamado.
Sufocado no cômodo escaldante, levantei-me e saí pela porta. Atravessei o jardim, afundando os pés na bruma elétrica que cobria a grama. As pedras luziam como gemas no veludo de uma joalheria, e a terra nos canteiros era aquecida pelo fulgor do adubo que se vivificava.
Eu tinha os braços e as pemas revestidos de luz, bainhas de madre-pérola que formavam uma armadura de coroação. Olhei para a pedra simples que marcava a sepultura do coelho de Henry, esperando que a criatura se reconstituísse e se pusesse a saltitar na grama fulgurante. No sonho desperto daquele jardim iluminado, o tempo e o espaço já não impunham suas necessidades. O mundo contingente estava a se rearrumar, e o tempo seqüencial cedia lugar à simultaneidade, como Dick havia prometido, onde os vivos se consorciavam extaticamente com os mortos, o animado com o inanimado.
Esperei que Miriam surgisse entre as árvores. Ela caminharia novamente por aquele jardim, enquanto Alice e Lucy brincariam com as criancinhas menores que tinham sido e eu reencontraria a mim mesmo, o marido jovem que fora. Voltei o olhar para a casa, mas Dick tinha sumido, e sua câmara se achava sobre o tripé, ao lado de minha cadeira vazia. A rua Charlton corria, através de uma nave de luz, na direção do rio, e imaginei que Dick tivesse ido buscar as crianças, falando-lhes de seus novos companheiros que os esperavam.
Segui pelo caminho que rodeava a casa. O envoltório prateado de meu carro flutuava na entrada da garagem como um blimp preso a um cabo. Minha vizinha aproximou-se com sua velha cadela, cujo pêlo ralo fulgia como a juba de um leão. Diante de mim estendia-se Shepperton, uma cidade de toureiros vestidos com trajes de luz. Os carros se moviam na avenida, trocando suas intensas auras. Um helicóptero cruzou o rio, e as pás do rotor arremessavam dardos de prata nos grandes olmos.
Atravessei a rua junto ao obelisco comemorativo da guerra e entrei no parque à beira-rio. A distância, sob os salgueiros, meus filhos brincavam com bolas de gás compradas na confeitaria. Globos de ar pintados pairavam entre suas mãos. Atrás deles, uma moça caminhava pela floresta. Seus cabelos louros flutuavam entre as folhas, e deles caíam auréolas. Sem fôlego, admirei-lhe a graciosidade, o modo como ela aquietava as árvores com um gesto e sorria para sossegar os estorninhos. Sua beleza sem artifícios lembrou-me uma princesa nas cavernas recamadas de pedras preciosas de Gustave Moreau. Acenei-lhe, esperando que me tocasse com a mesma graça plácida, mas ela estava acompanhando as crianças na direção do rio.
Perdendo o caminho nas ramagens feéricas, sentei-me num banco e olhei para os ponteiros imóveis de meu relógio. O mundo fazia uma pausa enquanto o tempo sustinha a respiração. A luz era agora tão intensa que obliterava todas as cores da folhagem dos olmos. O gramado a meu redor era um tapete de vidro triturado e das árvores pendiam pingentes de gelo, esculpidos no ar cristalizado. A alvura do mundo feria-me a vista. Alice e
Lucy correram para mim, como figuras de um filme superexposto, brincando no palácio de neve, e a luz intensíssima apagara de seus rostos toda e qualquer expressão.
O rio era uma geleira opalina, a correr por margens congeladas. Se o tempo estava parado, a água não se quebraria sob meus pés. Caminhei em sua direção, disposto a pisar-lhe a superfície corrugada e percebendo que Cleo Churchill procurava afastar-me do rio com seu sorriso de Moreau. Ela me puxava pelo braço, mas eu sabia que poderíamos atravessar a corrente juntos e descansar com as crianças no prado fronteiro ao parque.
Lancei um grito silencioso para Alice e Lucy, que me olharam intrigadas, como se houvessem esquecido de que eu era o pai delas. A seguir, Dick Sutherland apareceu entre as árvores, correndo em minha direção, pegando-me pelos ombros e me afastando da água. Sentei-me com ele na grama branca, enquanto as portas do sol se fechavam em torno de mim.
Três horas depois eu estava deitado em meu quarto, com um travesseiro debaixo das costas e com a cabeça doendo devido ao esforço de olhar para o céu. Um crepúsculo interior tinha caído sobre tudo. O jardim estava agora imerso em obscuridade, e as cores esmaecidas se achavam trancadas no interior das árvores e das flores, como que deprimidas depois de seu breve período de liberdade. Tentei proteger os olhos congestionados dos reflexos lançados pelos carros que passavam. Eu estava irritadiço e esgotado, e não conseguia dormir nem repousar. Depois de me tirar do rio, Dick me levara de carro para casa e me deitara na cama, enquanto Cleo preparava o jantar para as crianças.
Ao se distrair com o telefonema de um produtor de tevê, Dick me deixara escapulir para o parque. Eu já me arrependia de ter concordado com a experiência. Fosse ou não deliberado, o descuido de Dick quase me levara a afogar-me. Irritava-me sobretudo que ele estivesse mais interessado em minha messiânica tentativa de caminhar sobre as águas do que em minha visão de Shepperton como um jardim solar, um paraíso adormecido à espera de ser despertado pedra por pedra, folha por folha.
Procurando concentrar os pensamentos, olhei para o teto. Sempre que meu olhar se fixava em um ponto por mais de alguns segundos, uma pústula ulcerosa aparecia no gesso, como se meus olhos transmitissem uma doença virulenta - um olhar de górgona que transformava uma minúscula mancha de inseto numa infecção latejante. Logo o gesso supurado estava coberto por uma peste de furúnculos. Tentando recuperar a visão paradisíaca, os centros óticos de meu cérebro interpretavam erradamente as mais insignificantes pistas no jogo de luzes do quarto silencioso.
Tapei os olhos e fiquei a ouvir as crianças, que se divertiam com uma festa improvisada por Cleo e a filha. Suas vozes me acalmaram, mas quando eu movi a mão percebi que moscas cobriam cada pedacinho do quarto. Suas asas trêmulas se agitavam sobre os lençóis e os travesseiros, ocultando-me as mãos com luvas negras. Ao tentar afugentá-las, toquei os cabelos e descobri que me faltava uma parte do crânio. As pontas dos dedos afundaram nos tecidos moles de cérebro...
Ouvindo meu grito, Cleo deixou as crianças e subiu correndo a escada. Sentou-se na cama e pôs as mãos no peito, balançando a cabeça num gesto que traduzia sua desaprovação da loucura daquela tarde. Olhando para seu rosto aflito, vi o halo de luz que a acompanhara entre as árvores na margem do rio. Lembrei-me da bênção que ela havia lançado aos estorninhos e à grama.
- Jim... Quer que eu ligue para Richard? Acho que devo telefonar também para seu médico.
- Não... Mas chame Peggy Gardner. Isso vai passar logo. - A última pessoa que eu queria por ali era o médico que cuidara de Miriam, ainda sob o domínio da Sra. Bell, a parteira, e pronto a levantar dúvidas quanto à minha capacidade como pai. Passeios pelo paraíso e visões xamanísticas pertenciam ao reino dúbio dos abortos em ruelas escondidas e dos viciados em noz-moscada. Levei a mão, ansioso, à cabeça e constatei com alívio que meu crânio estava intacto. - Meus dedos estão muito sensíveis... Achei que tinham entrado no cérebro. As crianças estão bem?
- Estão ótimas. Inventei uma brincadeira nova para elas. Acham que você sofreu uma insolação.
- E sofri mesmo! Aquela luz intensa... Por alguns segundos, esta tarde, eu vi... o céu e o inferno.
- Deve ter sido uma das overdoses de Richard. - Havia em sua voz uma ponta de recriminação, como se ela estivesse bem a par das ambíguas experiências de Dick. - Espero que tenha valido a pena.
- Valeu... É, valeu. - Segurei a mão dela, esperando que os cupins desaparecessem nas paredes. Em algum ponto no interior de minha cabeça Cleo ainda caminhava pelo bosque à beira-rio, esperando que eu me unisse a ela no palácio de luz, cujas portas se entreabríam entre os olmos. Naquela visão paradisíaca, todo seu acanhamento desaparecera, ela já não escondia os olhos atrás dos cabelos compridos e do constante sorriso. - No fim, tudo se fez em mil pedaços, mas eu vi uma coisa que nunca tinha visto antes, um sonho de...
- O mundo real?
- Todos os mundos reais. Tudo aparecia como era na origem... - Tentando explicar-me, estendi a mão e lhe toquei os cabelos. - Eu disse a Dick que você parecia um arcanjo.
Cleo afastou minha mão de seu rosto, exprimindo desagrado com a liberdade que eu tomara.
- Isso seria uma maravilha para minha carreira. Espero que você repita isso no programa.
- Vou repetir. - Levantei-me e me sentei, constrangido, a seu lado. Queria enlaçar com os braços os quadris largos de Cleo. Um dia, nós atravessaríamos aquele rio juntos. - Cleo, diga-me uma coisa... Havia filme na câmara?
- Imagino que sim... Por quê?
- É mais fácil controlar as pessoas quando elas acham que vão aparecer na televisão. É que Dick...
- Talvez você tenha confiado demais nele... Mas suponho que Dick o compreende.
Cleo se deteve na porta, olhando para mim como se pela primeira vez entendesse minha verdadeira motivação para embarcar naquela arriscada expedição cerebral.
Se Cleo estava disposta a me dar um crédito de confiança, Peggy Gardner demonstrou sua desaprovação de modo categórico. Durante os dias que se seguiram, caminhei pelo jardim, contemplando os girassóis e os brinquedos quebrados, tentando entender por que a luz os abandonara. Toda Shepperton estava sem graça e inerte, exaurida pelo esforço de assumir, por um breve período, sua verdadeira identidade. Enquanto as crianças estavam na escola, fui até o rio, buscando nas árvores algum sinal da presença de Cleo. De vez em quando eu percebia indícios daquela clareira mágica em que ela havia caminhado com os pássaros, vestida de luz.
- Você meteu um cavalo de Tróia em sua mente - disse-me Peggy, fazendo força para mostrar-se simpática. - O que estava querendo realmente fazer?
Pensei numa resposta.
- “Colocar a lógica do visível a serviço do invisível...” Foi mais estranho do que eu esperei... Eu estava, na verdade, olhando para o interior de minha cabeça.
- Mas, Jamie, meu querido... já sabemos o que existe lá. Isso fica óbvio para quem tenha lido algumas páginas.
- Sombras na parede. Dick tinha razão... Eu estava vendo o cérebro em funcionamento, vendo-o juntar pedaços de tempo e de espaço num sonho operacional de vida.-Apontei para as paredes de meu estúdio e para o jardim ensolarado. - Tudo isso é um cenário, como o de um estúdio de cinema.
- E o que acontece quando você desmonta o cenário?
- Francamente, ainda não sei.
- Vai tentar de novo?
- Daqui a um ou dois meses. Dick está querendo me filmar.
- Que loucura... Tudo isso para um programa de televisão?
- Nisso, estou satisfazendo a vontade dele. É difícil descrever a luz intensa, a sensação de que a gente está para presenciar uma grandiosa revelação.
- Qual?
- Vou descobrir. A mesma luz desceu sobre Lunghua no dia em que a guerra acabou.
- Ela nunca acabou... para você.
Peggy estava parada à porta, de costas para o jardim, olhando-me com aquele mesmo jeito gentil e condescendente que eu lembrava de Lunghua, quando, no alojamento das crianças, eu lhe falava de algum plano maluco para conseguir comida. A luz definia seus ombros fortes e os quadris bem-feitos, que eu nunca apertara contra mim. Num sentido real, nós nos conhecíamos bem demais. O sexo era coisa para estranhos, e assim que uma pessoa deixava de ser estranha o desejo chegava ao fim. Miriam sempre tivera o cuidado de manter uma parte de si oculta por um véu. Talvez um dia Peggy e eu nos tornássemos estranhos um para o outro, à medida que envelhecêssemos e nos distanciássemos...
A luz mudou, uma alteração retínica. Por um instante, vi Peggy suspensa no ar acima da pereira, o anjo de nosso subúrbio. Visualizei aquela médica meio solteirona, com seu tailleur de lã e seus sapatos sociais, em vários pontos sobre os telhados de Shepperton.
- Você está bem? - perguntou Peggy, olhando-me fixamente. - Você estava a quilômetros de distância. E as crianças... Sally vai cuidar delas?
- Dick pediu a uma amiga dele, Cleo Churchill, que fizesse isso. Cleo trouxe a filha e dormiu no sofá. Ela tem a cabeça mais no lugar. Acho que ele ficou com medo de que Sally pudesse...
- Coitada de Sally. Vocês se usam como crianças anormais.
Beijei Peggy com carinho e vi seu carro se afastar. Depois ajudei as crianças a fazer seus trabalhos escolares e preparei nosso almoço. Adultos anormais? A recriminação doía, por mais que eu achasse que a postura de responsabilidade e bom senso de Peggy era menos concreta do que ela julgava. Peggy podia cuidar de bebês abandonados e maltratados, porém nunca amara um filho realmente seu, com tudo o que o amor acarretava. Espectros rondavam o jardinzinho de sua casa em Chelsea. Não era somente em minha cabeça que, numa remota estação ferroviária, quatro soldados japoneses ainda esperavam um trem que jamais chegaria, tão presos ao tempo como nós. A guerra era o meio através do qual as nações escapavam do tempo. Peggy, eu e os soldados japoneses fôramos abandonados naquela plataforma-ilha, à espera que outra guerra nos libertasse. Eles haviam atormentado o chinês até a morte na esperança de que a crueldade bastasse para liberar a mola mestra da guerra.
Três semanas depois, em outra quente tarde de verão, sentei-me em minha cadeira junto da porta-janela aberta. A câmara de Dick, com ou sem filme, apoiava-se no tripé. Enquanto Cleo aprontava as crianças para um piquenique, Dick conversava com seu agente ao telefone, ainda esperançoso de vender sua série psicodélica a um canal regional.
Por sugestão dele, havíamos transformado o matagal que era o jardim num modelo de burguesa vida familiar. Os brinquedos das crianças estavam dispostos na grama como peças em exibição numa quermesse de igreja. Recuperados dos mais escuros armários, uma geração mais velha de ursinhos e coalas sentava-se em círculo, como pacientes geriátricos autorizados a tomar banho de sol. Lavados e passados, os mais bonitos vestidos das meninas pendiam do varal, e o cartaz de tourada de Henry, com seu nome ao lado do de El Cordobés e Paco Camino, fora afixado na pereira.
Ao ouvir as crianças gritarem no portão, deixei a cadeira e fui até lá pelo caminho que rodeava a casa. Cleo estava levantando uma cesta de piquenique na porta da cozinha.
- Você vem conosco? Que bom!-Ela me recebeu com um sorriso de surpresa. Desaprovava as experiências de Dick, e era evidente que achava que eu estava sendo manipulado por ele.
- Não. - Ajudei-a com a cesta. - Gostaria de poder ir. Vamos começar daqui a pouco.
Cleo afastou os cabelos do rosto, mostrando-me deliberadamente o rosto forte.
- Espero que você esteja bem. Da última vez...
- Houve alguma coisa de errado com a dose. Não se preocupe. Vou ver você como um arcanjo de novo.
- Veja-me como eu sou. - Cleo parou junto do carro e descansou a cesta no capo. Antes ela ajudara Dick a dispor os brinquedos das crianças na grama, dando passadas largas e inquietas. - Por que não vem conosco? Você é a última pessoa que precisa fazer experiências consigo mesmo.
- Cleo, eu prometi a Dick-Lucy chegou-se a mim, exibindo o cinto reluzente.
- Você não vem, papai?
- Vem com a gente, papai - disse Henry. - Nós vamos ao Mundo Mágico.
- Ah, papai, vamos.
Cleo ergueu a cesta e a apoiou no quadril, deixando que eu tomasse minha própria decisão.
- Já ouvi falar muito desse Mundo Mágico.
- Espero que ele ainda exista. São objetos velhos, usados em comerciais de tevê.
- Parece engraçado. Muito mais real do que essa bobagem de Dick. Abri o portão para ela, e vi as crianças dispararem para a campina, seguidas pela velha retriever. Estariam elas tentando cooptar Cleo para sua infância perdida, reencontrando aquele sonho idílico que eu estava procurando com o LSD? Lembrei-me das crianças pálidas e fantasmagóricas que me haviam fitado na beira do rio, como se me olhassem do outro lado da morte.
Alice segurou a coleira da cadela, sorrindo, com esperança de que eu me juntasse a eles.
- Você tem razão. - Peguei a cesta das mãos de Cleo. O cheiro quente de seu corpo era mais vivido do que tudo quanto o LSD poderia evocar. - Dick que arranje outra pessoa. Vou pegar umas garrafas e me encontro com vocês daqui a alguns minutos.
Alucinações cantaram para o ar de verão, saltitando em direção ao rio e à clareira mágica dos estúdios de cinema.
A idéia de montar uma exposição de carros batidos me ocorreu em 1969, depois de um acidente que Sally e David Hunter sofreram perto do aeroporto de Fair Oaks. Por sorte, ambos escaparam sem um arranhão, mas as estranhas circunstâncias do acidente, assim como a conduta das testemunhas, pareciam provir diretamente da lógica especial dos anos 60. A exposição no Laboratório de Artes, que deixou perplexos alguns visitantes e escandalizou um número muito maior deles, sintetizou muitas das minhas obsessões na época e claramente prenunciou o desastre que quase me matou três meses depois. Até seu final, a década continuava a desfiar suas lúgubres mitologias.
Ainda decidida a me arrancar de Shepperton, Sally comprara entradas para o show aeronáutico de Fair Oaks, onde David participaria de um vôo em formação de antigos Tiger Moths. O barulho de aviões assustava demais Alice e Lucy, e elas preferiram passar o dia com Cleo Churchill e Penny. Generosa como sempre, Sally insistiu em que Henry tivesse um tratamento especial. Quando chegou, ele estava montando um aeromodelo, cercado por sua própria exposição aeronáutica de caças da Segunda Guerra Mundial, réplicas perfeitas que pareciam ter mais detalhes do que os originais.
- Venha, Henry! Vou pedir a David que leve você para dar uma volta sobre Shepperton.
- Bem... David é meio medroso. Neil Armstrong vai estar lá?
- Ele mandou pedir desculpas... teve de voltar à Lua. - Sally fez força para meter o capacete de futebol americano de Henry, presente de Dick Sutherland, sobre seus cabelos platinados. - Henry, eu vou ser a primeira mulher astronauta.
- Hein?... Uma mulher?
- Difícil de engolir, não é? Um passo gigantesco para a espécie feminina, é disso que precisamos. - Depois que Henry saiu para mudar de roupa, Sally fez voar os aeromodelos, soprando a fumaça de seu Moroccan Gold através das hélices prateadas. - São tão perfeitos, como ovos de Fabergé... O mundo está se cobrindo de plástico quebrado, e Henry fica aqui, sozinho, juntando todos os pedaços de novo. É sobre esse tipo de coisa que você devia escrever.
- Eu escrevo, Sally. Esse é, praticamente, meu único tema. - Satisfeito por vê-la, segurei-lhe os quadris meneantes.-Sally... você está a oito quilômetros de altura antes mesmo de decolar.
- Aqui fala o comandante! - Sally descansou os antebraços marcados por agulhas, com sua mistura de perfumes, em meus ombros. - O avião que nesse momento está caindo sobre Shepperton é o Mumford Express...
Ela ainda estava usando o capacete de futebol quando saíamos para o aeroporto de Fair Oaks. Embora menos freqüentes agora, as visitas a Shepperton sempre acalmavam Sally. Ela desembarcou ali como um excêntrico balonista vitoriano, e o cabo que a prendia ao chão era a afeição das crianças. No entanto, assim que saímos ela se livrou das amarras. Com os cabelos a esvoaçarem pelo teto aberto, pôs os braços para fora, acenando para os extras que saíam dos estúdios de cinema. A ponta brilhante do cigarro mal apertado lançou uma esteira de faíscas sobre o banco traseiro e queimou a orelha de um fiel coala. Henry tossiu e Sally saltou para o banco de trás e deu tapas nos pedacinhos de brasa fumegantes. Gritou para o jovem policial que orientava o trânsito nas proximidades de Fair Oaks, e o rapaz olhou com assombro para a minissaia que se sacudia sobre suas nádegas alvas.
Quando chegamos ao estacionamento, ela viu que uma equipe de televisão filmava o show. Tirou o capacete e assumiu a expressão dura que era típica de suas viagens anfetamínicas, olhando com um ar esquisito os aviões e seus pilotos. As passeatas de protesto contra a guerra do Vietnam, os choques com a polícia, o abuso de drogas e os períodos de recuperação em Nova York lhe haviam dado uma agitação constante, que resultava em parte de um permanente jet lag, em parte de uma overdose de heroína e de vida. Como tanta gente no fim da década de 60, aquela experiência farmacêutica de dez anos, ela via os meios de comunicação como um sistema de sobrevivência, que alimentava à força, com violência e sensações fortes, seu cérebro entorpecido.
Às vezes, porém, eu achava que era Sally e alguns milhares de outras pessoas semelhantes a ela que sustentavam a década, uma época que impiedosamente lhes sugava o frágil sistema nervoso em busca da última pulsação de energia e excitação. O carrossel girava agora ainda mais depressa, impulsionado por Sally, montada no exausto unicórnio. Eu odiava os braços picados de agulhas, mas adorava vê-la surgir em Shepperton com presentes para as crianças e suas intermináveis histórias sobre King's Road. Sally se comprazia em acampar durante horas com Alice e Lucy na barraca do jardim, assar e confeitar um bolo de aniversário para um ursinho amigo. Mais tarde, depois que as crianças iam dormir, ela se deitava no sofá, com os calcanhares em minha nuca, quase me estrangulando enquanto capturava alguma fugidia lembrança do pai, recuperada com minha ajuda.
Ela se vestia depressa e me esquecia, sumindo na noite, gritando alguma coisa sobre uma festa, impaciente demais para se ocupar com alguma necessidade minha. Um pouco desapontado, em geral eu me sentia aliviado ao vê-la sair. As seringas vazias que eu achava dentro da privada me deixavam nervoso. O mais preocupante era que Sally furtava dinheiro das crianças, como se tentasse recobrar parte da afeição que lhes dera. Alice e Lucy gostavam demais de Sally para se importarem. Quando eu lhe tentava emprestar dinheiro, ela me mostrava seus talões de cheques, e entendi que ela precisava furtar as moedinhas das bolsas das meninas. Enganador, o carrossel a levara a pensar que nada mais importava além da velocidade.
- Sally, meu bem... Jim, ela tirou você daquela sua pequena Alca-traz. - David estava ao lado do Tiger Moth, glamouroso, num macacão branco de vôo, ajustando um extintor de incêndio. Abraçou Sally, dirigiu-me um sorriso amável, mas frio, e colocou o extintor em minhas mãos, com um gesto que dava a entender que talvez em breve eu precisaria dele. - Vamos, Henry... Vamos decolar e bombardear Shepperton...
- Podemos mesmo, David? Vamos bombardear minha escola.
Já fazia algum tempo que eu suspeitava que Sally estivesse saindo com ele. Não tinham nada em comum no tocante a temperamento ou interesses - David detestava hippies e ciclistas, e tentava atropelá-los -, mas poderiam ver, um no outro, suas próprias necessidades caprichosas.
Henry e eu fizemos uma pausa para examinar um minúsculo Mignet Flying Flea, pouco mais do que um skate aéreo, e Sally saiu na direção do Tiger Moth, que David pilotava num comercial de vermute. Tirou do pescoço o cachecol de seda, como se estivessem para fazer amor debaixo da asa do avião. Ao cumprimentar Sally, os olhos de David foram tomados pelo humor fácil que ele dirigia às prostitutas de Moose Jaw. Apertou-a contra o ombro e beijou-lhe de leve os cabelos louros, ao mesmo tempo em que dirigia a Henry um animado aceno. Minutos depois Sally se convertera numa fantasia de fetichista: uma mulher de cabelos platinados com um dólmã do Comando de Bombardeiros, além de um conjunto antigo de capacete e óculos.
Sally continuou a lhe segurar o braço, feliz por experimentar aquele homem perigoso. Depois de decolarem no Tiger Moth, David descreveu um círculo em torno do aeroporto e percebi que ele a estava expondo a todo o show aeronáutico, uma náiade do ar que ele trouxera das nuvens. Depois de aterrissarem, David a levantou da nacele, apresentando-a formalmente à terra mortal. Sally tinha o rosto branco de frio, seu nariz e os lábios estavam pontudos como os de uma ave ártica, o vento ainda lhe castigava os olhos excitados. O céu atrás dela era um sonho de heroína. Tive vontade de ficar com eles, temendo que Sally incitasse David a alguma louca exibição acrobática, mas ele evitou meus olhos.
David e eu nos víamos menos nos últimos anos. Eu apreciava nele seu espírito nada convencional e sua simpatia espontânea, e era grato pelo carinho que ele dedicava às crianças - a paixão de Henry por aviões fora cuidadosamente instilada por David, que passava tardes infindáveis com ele em remotos campos de aviação. Entretanto, David reagira mal à morte de Miriam - longe de esquecê-la, ele sentia sua perda cada vez mais, à medida que o tempo passava. Às vezes ele me olhava como me julgasse responsável por sua morte e acreditasse que só ele mantinha viva sua memória. Uma semana antes da exposição aeronáutica de Fair Oaks, ele apareceu num restaurante do Soho, onde eu estava almoçando com um jornalista americano, e ficou de pé em silêncio, junto de nossa mesa, sem responder a meu convite para sentar-se conosco. Atrapalhando a passagem dos garçons, ficou a olhar-me fixamente, custando a demonstrar ter-me reconhecido. Cheguei a pensar que fosse me agredir, mas me deu um tapinha no ombro, sem uma palavra, e voltou para onde estavam seus amigos.
Exteriormente, ele continuava o irmão mais velho e sabido de sempre, que compreendia toda a minha personalidade e motivações. Nunca lera nada que eu tivesse escrito, explicando que não precisava - ele já participara da mais importante história que havia em minha cabeça. Seu senso de humor se tornara mais excêntrico, quase um arremedo dos surrealistas que eu tanto admirava. Considerava o número crescente de turistas japoneses em Londres uma tentativa consciente de provocá-lo. Ao me dar uma carona para casa, depois da estréia de 2001: Uma Odisséia no Espaço (seu comentário: “...um filme de treinamento de espaçomoças da Pan Am”), ele parou seu Jaguar na estação Belgrave e ficou olhando, sorridente, um dos sobradões de estuque. Imaginei que tivesse localizado o endereço particular de um comediante de tevê, mas se tratava da embaixada do Japão. Quando surgiu na calçada um azarado adido, provavelmente a caminho de um seminário do Conselho Britânico sobre relações culturais entre nossos países, David acelerou o motor e disparou contra o idoso japonês, quase o jogando sobre o capo. Para David aquilo fora uma brincadeira sem maior importância, mesmo que houvesse matado o homem.
- Não posso deixar morrer a lembrança de Xangai - gritou, enquanto dobrávamos a esquina de Knightsbridge a toda velocidade. - Estou começando a esquecer... A merda é que não existe nada mais para lembrar.
Por sorte, seu período na RAF lhe proporcionara uma rede de apoio de ex-pilotos militares, uma das mais fortes do mundo. David era agora representante comercial e vendia helicópteros franceses de dois lugares a estrelas da música pop e magnatas interessados em projetar uma imagem de poder. Entretanto, sua verdadeira paixão consistia em dirigir stock-cars em Brands Hatch. Por duas vezes fora suspenso devido a manobras perigosas na pista, o mesmo estilele perigoso que ele exibia em ruas de subúrbios. Dirigia de maneira propositalmente descuidada, como se tentasse expressar completa indiferença por tudo e por todos. Distanciado de seu passado na China, que nós dois tínhamos começado a esquecer, e sem raízes na Inglaterra, ele via os poucos elementos reais de sua vida abandoná-lo, pois os pais tinham morrido e os amigos do tempo da guerra estavam se mudando para a Austrália ou a África do Sul.
Preocupado com David, eu queria ajudá-lo, tanto quanto desejava afastar Sally de suas agulhas hipodérmicas, mas as crianças me ocupavam demais. Quando os dois saíram, de braços dados, em direção ao bar do clube, comecei a segui-los, mas senti que Henry me puxava o braço. O menino tivera bom senso suficiente para saber que devíamos deixá-los a sós, e estava muito mais interessado nas fileiras de máquinas voadoras antigas. Satisfeitos por estarmos juntos, passamos a tarde percorrendo a exposição aeronáutica.
No fim do dia, quando voltamos ao estacionamento, o Jaguar de David desaparecera. Imaginei que ele tivesse dado uma carona a Sally até seu apartamento em Bayswater. O perfume de Sally continuava presente em nosso carro, gravado no banco quase como uma fotografia de afeto e desejo. Pensei nela ao encontrarmos um engarrafamento no tráfego denso na direção de Londres. Carros parados bloqueavam as duas pistas, e luzes de advertência piscavam na capota de um carro da polícia no acostamento.
Dois carros tinham colidido nas proximidades da ponte de Chertsey, e a estrada estava cheia de vidro quebrado. Avançamos um pouco, acenamos teatralmente para um guarda rodoviário, pedindo passagem, como se fôssemos extras contratados por um estúdio e atrasados para a filmagem do dia. Olhando entre os carros que vinham em sentido contrário, avistei o primeiro dos dois carros avariados, um táxi londrino que levava duas aeromoças japonesas e suas bagagens. De pé ao lado de um sargento da polícia, o motorista examinava seus faróis quebrados e a grade amassada do radiador. As japonesas estavam junto dele, protegendo os olhos do sol inglês com um ar quase culpado.
Reconheci o segundo carro, bem como a perna branca apoiada no chão, através da porta aberta do lado do passageiro. O Jaguar prateado de David se achava atravessado na estrada, com o pára-choque cromado entortado e metido dentro do pára-lama direito. Sally e David estavam sentados no banco dianteiro. Nenhum dos dois se ferira, mas o pára-brisa do Jaguar se quebrara, enchendo o carro e a estrada de fragmentos de vidro. Sally estava recostada, com as pemas abertas e a mão direita no braço de David. Olhava os pedaços de vidro que tinham caído sobre ambos. Observando-os, impressionou-me a pose deliberada dos dois, como dançarinos que tivessem se imobilizado num floreio exibicionista ao fim de seu número. Nenhum dos dois estava interessado no bem-estar do outro, mas apenas nas atitudes que assumiam dentro do Jaguar, como se memorizassem, para futura utilização, a geometria exata das coxas expostas de Sally e do couro nervurado do estofamento, o ângulo preciso entre as pernas de David e a inclinação do volante.
O sargento falava-lhes do lado de fora, mas não lhe davam atenção, olhando extasiados para as próprias mãos. Pareciam estar ensaiando para uma apresentação ainda por acontecer, uma colisão ainda mais espetacular. Não havia sinal algum de choque no rosto de Sally, mas somente um ligeiro sorriso, quase sensual em seu narcisismo.
Os carros avançavam lentamente em direção à ponte, mas eu parei e abri a porta, disposto a oferecer ajuda antes que chegasse a ambulância.
- Papai...! - avisou Henry. - O guarda está gritando com a gente!
Ouvi um soco na capota do carro. Dei a entender que percebera o sinal do guarda, acenei para Sally e David e juntei-me à fila de carros que atravessava a ponte. Alguns pedestres, no acostamento, olhavam para os carros batidos. Deram um passo atrás, abrindo espaço para uma platéia mais abalizada que chegava. Pessoas que voltavam da exposição aeronáutica estavam deixando seus carros numa rua lateral e no estacionamento de um pub à margem do rio. Juntaram-se em torno do Jaguar, inspecionando a carroceria avariada e as marcas de pneus gravadas no asfalto, com os olhos experientes de fãs que avaliassem uma demonstração de acrobacias. Dois homens filmavam a cena, e os policiais não fizeram nenhuma tentativa de impedi-los, impressionados com o conhecimento técnico daquela platéia solidária. No entanto, ninguém moveu um dedo para ajudar Sally ou David, e um homem com uma jaqueta de aviador chegou a protestar quando apareceu uma ambulância e os enfermeiros que retiraram Sally e David do Jaguar bloquearam o campo de visão de sua filmadora. Não pude deixar de pensar que havia nascido um novo teatro de rua.
Nas semanas seguintes, dirigindo pelo centro de Londres, notei o mesmo olhar circunspecto nas pessoas que se juntavam em torno de acidentes, como se esses abalroamentos fortuitos desmascarassem as fórmulas secretas de suas vidas. Funcionários de escritório que saíam para almoçar ou motoristas que descarregavam caminhões de entregas arregalavam os olhos para os carros batidos, que se materializavam no trânsito numa fanfarra de metal rangente e buzinas. Era invariável que se formasse uma platéia atenta, que com toda calma examinava os veículos.
Muitas vezes eu parava meu carro e caminhava entre esses grupos, assombrado com a reação serena e comedida dos espectadores. No passado recente, não mais de dez anos, todos teriam tentado abrir, mesmo com as mãos nuas, as carrocerias e as capotas esmagadas, para livrar os ocupantes feridos. Gerados por uma ecologia de violência, atos de atordoante brutalidade dominavam agora os espaços imaginativos da vida dessas pessoas, obliterando todos os sentimentos e emoções. Era possível que, em sua comunhão silenciosa com o carro avariado, estivessem tentando habituar-se com os desastres e assassinatos televisados que lhes dominavam o espírito e fazendo o que podiam para restaurar uma perdida solidariedade.
Aonde poderia chegar essa lógica aberrante foi uma coisa que percebi, pela primeira vez, no dia em que Sally me levou de carro à inauguração das novas instalações do Laboratório de Artes, em Camden Town. Em geral eu evitava ser passageiro no possante MG de Sally, e sempre achava uma desculpa para impedir que as crianças viajassem com ela. Naquela noite, entretanto, Sally estava surpreendentemente ajuizada, dirigindo dentro do limite de velocidade e olhando sempre pelo retrovisor. Aquilo me fez imaginar que ela ainda estava se recuperando do acidente depois da exposição de Fair Oaks.
- Eu não senti absolutamente nada - disse-me ela, com evidente desapontamento. - Nem vi quando aconteceu. De repente, estávamos parados ali, cobertos de vidro e junto daqueles guardas enormes. Não sofri um arranhão... Para dizer a verdade, eu me senti fraudada.
- Você podia ter sido atirada para fora, pelo pára-brisa.
- Jim, foi um barato! Você teria gostado. David virou o volante sem querer.
- Não creio nisso... - No acesso da ponte de Chertsey, eu avistara as aeromoças japonesas piscando os olhos contra o sol, como reféns amarradas a um alvo. - Aposto que ele sabia exatamente o que estava fazendo.
- Não, isso é bem do feitio de David. Ele parecia eletrizado. Nem sei por que as japonesas estavam ali.
- Ele vai matar você, Sally.
- Ótimo! Acho que eu ia gostar disso... - Tínhamos parado sobre
o viaduto de Westway, e os sinais de trânsito se refletiam no rosto pálido de Sally e sobre seu sorriso esquisito. Percebendo que me chocara, ela apertou minha mão contra o volante. - Não se preocupe, David quer matar é a si próprio, não está interessado em mim. Está sempre tentando bater em outros carros. Todo acidente lhe lembra alguma coisa... a guerra, acho. Você nunca falou sobre o campo, Jim. Ele foi maltratado, fisicamente?
- Fisicamente, não aconteceu a ele absolutamente nada.
- E quanto a você... Mentalmente, talvez?
- Sally, isso foi há muito, muito tempo.
- Não para ele. Batidas de carros trazem tudo de volta a David. Significam para ele o mesmo que as touradas para outras pessoas... sexo e morte... Você não se importou que eu fosse embora com ele, não foi, Jim? Ele é seu amigo mais antigo, de certa forma não é como se eu saísse com uma pessoa que você não sabe quem é.
- Lá isso é verdade.
- Eu adoro os duendes. Eles me ajudaram a crescer. Você também. Agora você passa o tempo todo escrevendo, e eu estou tão ocupada... - Sally falava em voz baixa, como que para si mesma. - Todo mundo muda, e nós estamos sempre nos afastando um do outro. Pelo menos uma vez na vida, eu gostaria de que todos nós parássemos para lembrar como eram as coisas. Tanta coisa está acontecendo, e eu quero participar de tudo. Quero viver os sonhos de todo mundo, estar dentro deles...
- Sally, você está fazendo isso. Mas...
- Jim, eu vou deixar você me comer, sempre.
Sally alisou os cabelos alvoroçados, pensando que talvez eu nem sempre viesse a querer. Seus dedos brincaram com o lábio superior, marcado por uma pequena cicatriz, causada pelo soco de algum amante casual ou por um produtor mal-humorado de filmes underground. Olhando para Sally, que corajosamente tentava juntar seus pedaços, percebi o quanto sua vida perdera todo e qualquer centro. Shepperton fora o eixo de seu carrossel, onde ela se aquecera junto do calor de meus filhos; mas ela havia se afastado para as luzes regirantes e o vento impetuoso do mundo lá fora. Eu era demasiado enfadonho para ela, estava excessivamente imerso nas brincadeiras e nos trabalhos escolares de meus filhos, embebido demais nos copos de uísque e soda que me animavam e acalmavam o mundo, uma compensação que Sally considerava demasiado limitada. Ela precisava realmente que o mundo investisse contra ela como as ondas que tinham quebrado sobre si na praia de Brighton.
Seguindo em frente, atravessamos a rua Marylebone e penetramos no labirinto de antigos estabelecimentos comerciais nas imediações de Camden High Street Quando Sally pôs-se a mexer no retrovisor, percebi que ela perdera o caminho deliberadamente, como que esperando que alguém nos encontrasse. Examinei a linha de prédios dilapidados. O Laboratório de Artes mudara para um edifício que no passado fora um armazém de produtos farmacêuticos. Seus pavimentos abertos de concreto eram o ambiente perfeito para agressivas exposições e happenings; seus imensos poços de ventilação pareciam construídos de propósito para fazer desaparecer os últimos sinais da fumaça de maconha no caso de uma batida policial.
Ao entrarmos numa rua de mão única, vi piscarem os faróis de um carro parado. O veículo partiu em nossa direção, acelerando com o rugido de um motor turbinado. Virei o volante enquanto Sally premia o pedal do freio, mas o carro se desviara ao passar por nós, com a coluna lateral do pára-brisa arrancando o espelho de um caminhão estacionado. No turbilhão de velocidade e perigo, reconheci o Jaguar prateado e seu pára-choque amassado. Sem diminuir a velocidade, ele virou no fim da rua e sumiu na noite.
- Sally... saia para a rua. Ele pode voltar.
Sally recostou a cabeça no encosto, com os cabelos platinados lhe encobrindo o rosto com um véu mortuário, atordoada com o momento de violência que se abrira e fechara com um rugido de fornalha. Na escuridão, o espelho quebrado retiniu pela última vez contra um pára-choque. Soltando a embreagem, liguei o motor, que tinha morrido e parei o carro na área de descarregamento de um armazém completamente abandonado.
Ficamos em silêncio, ouvindo o ronco distante do motor do Jaguar a caçar pelas ruas, o grito de um amante na noite.
- Foi David? - perguntei. - Sally, você viu David?
- Ele vai voltar. - Sally segurou meu braço. - Ele estava querendo advertir você.
- Há quanto tempo ele vem seguindo você?
- Só faz isso às vezes. Depois, sou eu quem o segue. - Ela apertou a mão sobre a minha, que segurava o volante. - É uma brincadeira de esconde-esconde. Agente finge atropelar o outro. Fique longe dele, Jim... Uma vez ele disse que na verdade você era um japonês...
Sally se calou, olhando para o cartaz desbotado na parede a nosso lado, que anunciava almofarizes e alambiques eduardianos. Havia afastado as coxas uma da outra, numa imitação de sua postura no carro de David depois da colisão na ponte de Chertsey. Estava a um só tempo serena e excitada, perdida num sonho de violência e desejo.
- Está gostoso aqui. Batidas de carros sempre... Jim, você vai ter que...
Sally pegou minha mão e a colocou entre suas coxas. A nesga de algodão estava úmida, um fluxo provocado pelo Jaguar em disparada. Curvando as costas, ela baixou a calcinha até os joelhos, e depois a empurrou para o espaço entre os pedais. Levou-me a mão à vulva, colocando meu dedo anular sobre seu clitoris, e abriu os braços sobre o encosto do banco, como que repousando depois de um acidente espetacular. Acariciei-lhe as coxas, procurando fazer desaparecer os sinais de picadas em suas veias, e ela acompanhou meus dedos com os seus, seguindo os contornos das feridas que deixariam marcas na pele branca.
- Jim, um dia vamos estar numa batida juntos... Eu gostaria disso... Pense nisso para mim.
Sally se atravessou no banco e levantou as coxas, expondo o ânus e acariciando a vulva com o indicador. Abracei-a com ternura, pensando nos anos que tínhamos passado juntos. Lembrei-me dela correndo com os cavalos no campo, perto do festival de rock, seus cabelos platinados balançando junto com as caudas dos animais, os olhos arrebatados com recordações da infância.
Ajoelhei-me no chão, meio atrapalhado com o painel que brilhava perto de meu ombro, o console de instrumentos projetando-se na escuridão. O interior estilizado do carro envolvia Sally com a intensidade de um amante. No momento em que ia penetrá-la, ela me pegou pelos quadris, mantendo-se numa posição na qual só a glande se introduzia entre os grandes lábios. Puxou as alças pretas do vestido e abaixou a parte de cima para soltar os seios.
Afaguei-os e ela me dirigiu um olhar sem expressão, como se desejasse ser violada por uma máquina. Segurou minha cabeça a meio palmo do bico do seio, traçando sobre ele um sinal, o diagrama de uma mutilação jamais sonhada. Estava se expondo não a mim, mas aos projetistas do carro, a David Hunter, de quem eu me tornara representante, e ao homem desconhecido que lhe moldara a infância. Seus dedos me arranharam o peito, tentando desenhar as bandagens de um ferimento, e deram uma pancadinha no bico do seio como uma enfermeira que tirasse sangue de uma veia. Quando gozei, ela comprimiu o seio em minha boca, como se me devolvesse todo o sangue que eu perdera no sexo-morte que formava a matéria de seus sonhos.
Ficamos deitados enquanto o Jaguar de David batia as ruas, uma fera entregue à sua estranha parada nupcial. Quando a luz dos faróis se refletia nas paredes dos armazéns, Sally apertava a cabeça em meu ombro. Sugando os braços infectados, ela se agarrava a meu peito, temerosa de deixar-me e correr na direção do possante farol.
Minha exposição de carros batidos manteve-se aberta quatro semanas no Laboratório de Artes, e durante todo esse tempo foi continuamente criticada pelos visitantes da galeria. Um dos poucos que a aprovaram sem restrições foi Peter Lykiard. Quando, a instâncias de Sally, lhe propus a exposição, ele aceitou o projeto na mesma hora.
- Excelente, Jim... De certo modo, o minimalismo emocional no que há de mais puro. Warhol aprovaria.
Na realidade, minhas intenções eram exatamente o oposto. Para mim, o carro batido era um repositório das mais potentes e engajadas emoções, um símbolo forte da nova lógica de violência e sensação que dominava nossas vidas.
Escrevi no texto do catálogo: “O conúbio da razão com o pesadelo, que domina os anos 60, gerou um mundo cada vez mais ambíguo. O universo das comunicações é assombrado pelos espectros de tecnologias sinistras e pelos sonhos que o dinheiro pode comprar. Armas termonucleares e comerciais de refrigerantes coexistem num reino de inquietude governado pela publicidade e por pseudo-acontecimentos, a ciência e a pornografia. A morte do sentimento e da emoção possibilitou enfim que nos dedicássemos a nossas próprias psicopatologias como um jogo... Carros Batidos ilustra o cataclismo pandêmico que, embora mate centenas de milhares de pessoas a cada ano e fira outros milhões, é fonte de infindável entretenimento em nossas telas de cinema e televisão.”
Ao contrário do que eu esperara, montar a exposição trouxe poucos problemas. Os cemitérios de automóveis da zona norte de Londres eram um manancial de peças de exposição, depósitos de um Louvre tecnológico. Num ferro-velho de Hackney selecionamos um Peugeot sanfonado e um Mini que despencara num barranco de estrada, com a grama ainda a crescer nos caixilhos das janelas.
Por acaso, encontramos um Lincoln Continental muito parecido com a limusine aberta na qual o presidente Kennedy tinha encontrado a morte. Aquele imenso carro americano sofrerá uma forte colisão frontal que empurrara a grade do radiador quase para o meio do compartimento do motor, mas deixara o resto do veículo praticamente intacto.
Sem dúvida, foi esse Lincoln esmagado que provocou as mais intensas reações. A gigantesca limusine preta se destacava sob as luzes fortes da galeria, cercado por paredes branquíssimas. Nenhum dos carros causaria a menor reação se estivesse na ma, onde não daria ensejo a um instante sequer de preocupação pela sorte trágica de seus ocupantes. No interior da galeria, porém, eles provocavam risos nervosos e comentários indignados. Visitantes que entravam desprevenidos e, inesperadamente, deparavam com os carros começavam a dar risadinhas ou xingar os veículos.
Essas reações confirmavam todas as minhas suspeitas quanto a tudo que uma tecnologia aberrante estava insulando em nossa vida. Para testar ainda mais o público, contratei uma moça que, de seios nus, entrevistou os convidados no dia da inauguração, através de um circuito fechado de tevê. No começo ela concordara em aparecer nua com o microfone, mas ao ver os carros decidiu que só exporia os seios - uma reação em si mesmo muito interessante.
É desnecessário dizer que tudo isto foi para os convidados uma provocação insuportável. Ao que eu soubesse, nunca um vernissage havia descambado tão depressa para tamanha orgia etílica. Incentivados por Sally e David Hunter, os convidados despejaram vinho sobre os carros, arrancaram os espelhos laterais e começaram a quebrar as poucas janelas intactas. David saltava de um lado para outro, supervisionando a bagunça com excelente humor. Insaciáveis, suas mãos quase não largavam os carros avariados, como se finalmente ele houvesse descoberto seu hábitat natural.
Quando a noite já chegava ao fim, a festa enveredou para um lado mais feio. Sally foi quase estuprada no banco traseiro do Continental por um hiperturbulento escultor para quem ela estava imitando as atitudes da viúva do presidente. Empolgado, David insistiu com a moça dos seios nus para que a entrevistasse durante o auge do ataque.
- Sally, estamos ao vivo! Conte aos telespectadores o que está sentindo! - David arrastou o cameraman, apoderou-se do microfone e enfiou-o pela janela no rosto furioso de Sally. - É com você, Sally! Queremos um comentário em suas próprias palavras...
Quando Cleo Churchill e eu conseguimos resgatar Sally, a festa tinha transbordado para a rua, com os convidados a procurar uma exposição ainda maior. Endireitando o vestido rasgado, Sally investiu contra o escultor bêbado com o sapato e saiu manquitolando com um salto quebrado entre as garrafas de vinho espalhadas. Fez uma careta ao ver sua imagem na tela da televisão e desapareceu na noite com um grito.
- Sally pode ir sozinha?-Cleo evitou o vinho que pingava do teto do Lincoln, e bateu sua porta com alívio. - Você provou alguma coisa, Jim... Só não sei o quê. Será que valeu a pena?
- Como experiência? Acho que sim. - Eu sabia que ela desaprovava a exposição, e só comparecera para me prestigiar. - Pelo menos eles não pararam de olhar para os carros, o que não se pode dizer da maioria dos vemissages. Dick Sutherland quer filmar tudo isto para uma nova série. Quando voltar dos Estados Unidos, vai reencenar a festa no Centro de Televisão, com extras no papel dos convidados.
- Deus nos acuda... Não deixe que ele use você o tempo todo. - Perturbada pela noite violenta, Cleo enxugou o vinho das mãos. Apontou para o monitor de tevê onde aparecia a imagem da galeria vazia. - Você está aparecendo na tevê neste momento... Isso não basta?
- Tevê comercial, Cleo... Dick acha que a idéia merece uma audiência de milhões de pessoas.
- Eu pensava que essa platéia já existisse. Sabe como é, nas ruas, na vida real.
- Cleo, isto aqui é a vida real... Mas estou satisfeito por você ter vindo. Posso lhe dar uma carona?
- Jim, meu querido, é melhor que não. Esta é uma noite em que eu não confio em você dirigindo...
Cleo postou-se em frente da câmara, usando a tela como espelho enquanto observava as manchas de vinho nas mangas do vestido. As cores eletrônicas tinham-se separado ligeiramente, e me recordaram minha visão, proporcionada pelo ácido, quando eu tinha visto Cleo envolta num manto de luz, caminhando entre as árvores à beira-rio. Minha princesa de
Moreau, que transformava os estominhos em pavões e serenava o ar com as mãos graciosas. Quis convidá-la a Shepperton de novo, atraído por sua inteligência e sua mente clara.
Mas Cleo estava preocupada comigo, ciente de que eu obedecia obstinadamente a uma perigosa lógica que havia descortinado. Se a vida fizera a morte piscar primeiro, coisa em que o mundo parecia acreditar, eu podia me dar por satisfeito. Num sentido extremo, Miriam reviveria, Kennedy atravessaria em triunfo a Dealey Plaza, os mortos da Segunda Guerra Mundial descansariam em suas tumbas e um rapaz chinês numa estação ferroviária rural teria finalmente me transmitido sua mensagem desesperada.
A exposição durou as quatro semanas programadas. Nesse período, os carros não pararam de ser agredidos por visitantes irados. Uma seita Hare Krishna invadiu a galeria e atirou uma lata de tinta branca no Lincoln. Enquanto isso, Sally e David continuavam seu desfile nupcial, perseguindo-se mutuamente pela cidade, do mesmo modo como David e eu tínhamos brincado de pique-esconde na ruas de Xangai, um jogo importante demais para ser encerrado.
Na noite em que a exposição terminou, eu voltava para Shepperton, pelo viaduto Hammersmith, quando vi o MG de Sally descendo, acelerado, a rampa de saída à minha frente. Eu tinha passado a tarde na galeria, acompanhando a retirada das amassadas peças da exposição, cujo estado lastimável - estavam cobertas de tinta e garatujas, os bancos ensopados de urina - chocou até os empedernidos desmontadores de carros, quando chegaram com o caminhão-reboque. De início recusaram-se a aceitar os veículos, assustados com as barbaridades da arte moderna. O destino dos carros podia ser o compactador e o alto-forno, mas ao arrastá-los para a rua eles já os limpavam protetoramente.
Em cima do viaduto, limpei o resto de tinta das mãos e vi o carro-esporte de Sally avançar veloz entre o trânsito, com uma lanterna traseira defeituosa piscando na meia-luz. No passado, sempre que eu a via na zona oeste de Londres, tinha certeza de que ela estava a caminho de Shepperton. Dessa vez, adivinhei que ela ia procurar David no aeroporto de Fair Oaks, e por um instante fui tomado por um pouco da mesma sensação de perda que havia experimentado depois da morte de Miriam. Sally, pelo menos, voltaria a sorrir para mim; faríamos amor e continuaríamos a gostar um do outro como sempre. Mas a última coisa que ela queria era solidariedade e afeição. Precisava das agressões de David e de suas manifestações de mau humor, quando ele, fazendo-lhe a vontade, a esbofeteava se ela se fazia de menina difícil.
Depois de Twickenham, o trânsito começou a melhorar. Ao passarmos pelo estádio de rugby, Sally entrou na faixa rápida, obrigando um carro que ultrapassava outro a frear. Faróis iluminaram a traseira do MG, e Sally fez um gesto obsceno através de uma abertura na capota de lona, e seu cigarro lançou um jorro de faíscas na noite. Relutantemente, ela chegou para o lado, deixando que o carro mais rápido a passasse, e depois guinou outra vez para a faixa rápida, com os faróis ofuscando o outro motorista.
Tendo ficado numa faixa mais lenta, esperei até chegarmos ao próximo trevo, acelerei para ultrapassar um caminhão pesado e parti ao encalço de Sally. Ela olhou pelo espelho retrovisor, levando-me a imaginar se me teria reconhecido, mas estava retocando a maquilagem.
Pensei em Sally e David fazendo amor no colchão de ar dele, o que ela me descrevera tantas vezes, ou sob as asas do Cessna no hangar deserto. Fui tomado por uma onda de ciúme e desejo, arrependimento por haver perdido Sally para aquele aeronauta, raiva de mim mesmo por ter reagido tão mal às suas marcas de agulhas e aos furtos...
Escapando de minhas mãos, o carro deu um salto transversal na estrada e tocou a traseira do MG. Nossos pára-choques se prenderam um no outro enquanto rodávamos pela pista. Com um sobressalto, Sally se encolheu, afastando os olhos das luzes possantes dos faróis e da massa barulhenta do carro que surgira do bojo da noite. De cigarro na boca, ela desviou para a esquerda, passou pelo acostamento e, um instante depois, apareceu de novo em minha frente ao perder o controle do pequeno volante.
Tentando evitar uma colisão, freei com força rápida. No momento em que o carro guinou para a direita, senti um pneu dianteiro estourar e o volante soltou-se de minhas mãos. O carro derrapou na pista dupla, e o pneu furado bateu no canteiro central, fazendo o veículo tombar de lado. O carro destruiu uma sinalização iluminada, virou de cabeça para baixo e avançou pela contramão.
Pendurado pelo cinto de segurança, eu via o asfalto correr a poucos centímetros de meu rosto, um teto de cascalho veloz que meus faróis iluminavam. O vidro do pára-brisa quebrou-se numa explosão de lascas de vidro. A capota do carro afundou e o espelho retrovisor bateu em minha testa.
O carro estava agora parado, no meio da pista contrária, a mais ou menos cem metros do sinal de trânsito destruído. Eu ouvia o barulho das rodas a girarem. A meu redor, os carros diminuíam a marcha e as buzinas competiam umas com as outras. Eu já sentia, na pista coberta de cacos de vidro, o cheiro do combustível que vazava. Motoristas safam de seus carros e corriam em minha direção. Desliguei o motor e tentei sair de onde estava, mas a capota afundada tinha prendido a porta. O combustível formava um pequeno charco junto da janela, enquanto uma dúzia de pessoas sacudiam o carro, tentando soltar a porta. Um homem bateu o punho na coluna. Desci o vidro da janela, desafivelei o cinto de segurança e caí na capota amassada.
Mãos me pegaram pelos ombros e me puxaram de dentro do carro. Atordoado pelo golpe na cabeça, deitei-me na grama, enquanto uma multidão se juntava ao redor de meu carro. Eu ainda via o asfalto a correr no clarão dos faróis, como se a própria morte investisse contra mim, passando a poucos dedos de distância de meus olhos.
Um enfermeiro ajoelhou-se a meu lado, franzindo a testa ao inspecionar seu estojo de primeiros socorros. Parecia não estar interessado em mim, e se queixou ao motorista da ambulância da falta de alguma coisa no equipamento. Uma patrulha da polícia, com as luzes piscando, parou a uns dez metros de meu carro, que um grupo de rapazes sacudia de um lado para outro. Duas adolescentes, vestidas para uma festa, se abaixaram para ver meu rosto, apoiando-se ora numa ora em outra das sandálias. Cantarolavam uma recente canção de sucesso, olhando-me como se eu fosse um bêbado que houvesse caído a seus pés numa festa.
Alguém acendeu um isqueiro. Antes que eu pudesse falar, Sally Mumford afastou as mocinhas. Tragando o cigarro, num gesto de proteção, ela olhou por cima da cabeça do homem da ambulância e baixou a chama do isqueiro para perto de meu rosto, curiosa de saber quem era o motorista do carro que quase a matara.
Quatro meses depois, nos últimos dias da década de 60, eu fazia parte de uma multidão barulhenta que, num estádio de futebol abandonado, na zona leste de Londres, assistia a um estranho espetáculo: carros semi-destruídos investiam uns contra os outros, lentamente, no campo enlameado. No centro da arena, com um capacete preso ao quadril, estava Sally, de jeans branco e uma jaqueta vermelha de piloto de rally. Furiosa, gritava com David Hunter, que, fora da disputa, descansava atrás do volante de seu carro destruído. Sally o incentivava a prosseguir, assoviando através dos dentes quebrados, mas ele, com um macacão prateado, estava recostado no banco e esticava os braços, assistindo com satisfação aos impactos dos veículos enferrujados a seu redor.
Vendo aquelas colisões despropositadas, lembrei-me de meu próprio acidente e da exposição no Laboratório de Artes. Eu ainda acreditava que a exposição fora imaginada para testar a reação do público, mas David não duvidava de que sua única finalidade fora incitar a mim mesmo. Não teria sido meu acidente, no qual eu tivera sorte de não ser morto, uma tentativa de morrer num erótico pacto de morte com Sally?
David levantara essa hipótese, quando ele e Sally me visitaram no hospital de Roehampton. Olhando para aquele casal de aspecto tão estragado, e de quem eu tanto gostava, compreendi que os havia explorado da mesma forma como Dick Sutherland e Peter Lykiard tinham explorado a mim. Eu queria ajudá-los, mas a louca montanha-russa da década de 60 apoderara-se de nossas vidas e nos arremessara entre seus trilhos rangentes.
Os últimos carros no campo atiravam-se uns contra os outros como os enfastiados bisões que se espojavam no lamaçal ao lado da ponte ferroviária em Moose Jaw. Lembrei-me dos Demônios Motorizados, em Xangai, antes da guerra, e das espetaculares colisões encenadas pelos despreocupados americanos. Apesar de todos os anos passados, o espírito deles parecia pairar sobre aquele campo modesto e sobre a maior de todas as tragédias motorizadas, a morte de Kennedy durante sua carreata. Eu ainda me lembrava de fotogramas do filme de Zapruder, anatomizado interminavelmente na televisão e em mil reportagens de revistas. Seriam os acontecimentos da praça Dealey tão-somente o mais elaborado de uma série de falsos acidentes, prefigurados naquela pista de acrobacias da Xangai de minha infância?
Tiritando de frio, os espectadores batiam os pés e esfregavam as mãos nas arquibancadas de madeira, sentindo nas narinas a fumaça do escapa-mento dos carros. O ponto alto da tarde, como anunciado, era a recriação de um espetacular acidente de estrada, uma colisão múltipla num trevo de Manchester na qual haviam se envolvido uma dúzia de veículos.
Antes desse número principal, haveria um evento feminino, e a multidão avançou para ver melhor. Sally e um grupo de moças, todas com jaquetas de seda listradas, os rostos pintados como o de prostitutas, estavam agarradas à capota de seus carros, com as pernas metidas pela janela do motorista. Os espectadores, homens corpulentos com blusões de couro, me empurraram na ânsia de chegarem ao corrimão da arquibancada. Enfiaram as mãos bem fundo nos bolsos. Só tinham ido ali para assistir ao espetáculo feminino, um percurso de destruição em forma de oito e cheia de impactos violentos, quando todos os pênis na arena estariam empalmados dentro de um bolso.
Um festival de cinema-observou Dick Sutherland enquanto tomávamos o terceiro Collins no Copacabana Palace -, dá uma boa idéia de como será o futuro.
- Mulheres lindas, mas inabordáveis, homens esfrangalhados e um milhão de sonhos concatenados pelo pó?
- Mais ou menos. Como Metrópole, de Lang, refilmado em Las Vegas. Não é que a ilusão passe a ocupar o lugar da realidade, mas a alucinação total toma o lugar da ilusão. Aqui se manifestam livremente certas atividades do cérebro humano cujo controle exigiu toda a duração da evolução. E eu acho ótimo.
- Já imaginei isso, Dick. E nosso congresso de filmes científicos?
- É a mesma coisa. Em muitos aspectos, ainda mais.-Dick sorriu, feliz como sempre por me provocar. - Mais cedo ou mais tarde, como tudo mais, a ciência vai se transformar em televisão.
- Isso parece sinistro?
- Demais. Mas é emocionante. Qual é aquela sua idéia de que você vive falando...?
Dick gostava de me ouvir repetir essa minha gasta profecia, sempre que sua confiança vacilava ou ele se via num lugar onde ninguém o reconhecia, o máximo em privação sensória para a personalidade televisiva.
- Esqueci... A de que você talvez venha a ser responsável pela primeira grande descoberta científica a ser feita na televisão?
- Isso mesmo. Talvez aconteça aqui. O Rio é uma cidade incrível. Do bar com ar condicionado ele contemplou, feliz, o desfile de
caminhões gigantescos que seguiam pela avenida Atlântica, anunciando o principal filme do festival, 2001, de Stanley Kubrick. No meio do trânsito congestionado surgiu uma frota de astronaves prateadas, parecidas com os modelos de demonstração de uma boate interplanetária. Com seus exíguos trajes espaciais aluminizados, as tripulações de moças de quadris bamboleantes disparavam sorrisos de garçonetes a magotes de turistas. Por alguma razão, somente os mendigos e aleijados acocorados diante dos hotéis da praia se dignaram a lhes prestar atenção. Ondas de música tonitruante se elevavam sobre o silvo das sirenes da polícia e dos gritos dos vendedores de bilhetes de loteria. Dois aviõezinhos passaram sobre a praia, rebocando faixas de propaganda de filmes rivais. Desafiando-os, fragmentos colossais de Assim falava Zaratustra repercutiam nas fachadas dos hotéis e avançavam para o mar, a fim de despertar o próprio Netuno.
O carrossel desapareceu na barulheira e na bruma, instantaneamente esquecido. Com exceção de Dick e das famílias de mendigos, ninguém prestara atenção aos caminhões. No Rio, a praia dominava tudo. Não se tratava de uma faixa de areia escaldante, segundo o modelo mediterrâneo, mas era, ela própria, uma cidade linear, ao ar livre, habitada por milhares de pessoas que tomavam sol, vendedores de pipas e relógios, sorveteiros e bandos pilhadores de mendigos, além de toda uma federação de equipes de futebol que jogavam em campos de areia quase do tamanho oficial. Ninguém nadava. As lerdas vagas do Atlântico arremetiam contra os crescendos de Richard Strauss, onda após onda, num repto aos executivos da indústria cinematográfica e aos organizadores do festival para que imitassem sua épica vastidão.
Como Dick e eu tínhamos notado logo ao chegarmos de Londres, o Rio acolhia alegremente o festival de cinema e ao mesmo tempo não lhe dedicava a menor atenção. Por toda parte, multidões faziam filas nos cinemas, e nos terraços dos hotéis acotovelavam-se equipes de televisão, starlets e produtores. Frotas de limusines e ônibus transportavam os delegados de uma suntuosa festa de embaixada para outra, enquanto bandos de prostitutas, com seus gigolôs, enchiam de tal modo as ruas de Copacabana que eliminavam qualquer esperança de conseguir clientes.
No entanto, a cidade absorvia tudo isso, como se as imagens ilusórias do festival não se comparassem à ilusão muito maior que era o próprio Rio, uma cidade que em muitos sentidos me recordava a Xangai de antes da guerra, mas uma Xangai de calçadas de mosaicos, dominadas pelas mulheres mais lindas e seguras de si que existiam no mundo. Vendo os enfastiados guardas de trânsito a pintar de cal os pára-brisas de carros estacionados ilegalmente, eu tinha a sensação de que estavam protegendo seus motoristas de um vislumbre cegante dessa extraordinária atividade sexual.
E acima de tudo isso havia a gente das favelas que coroavam as dezenas de morros que se elevavam das ruas do Rio. Na maioria das cidades do mundo, os pobres e miseráveis ocupavam suas áreas mais baixas, mas no Rio eles moravam perto do céu, descendo das nuvens para exibir seus filhos subnutridos e aleijados e puxar as mangas dos turistas. Teriam esses pobres, numa certa manhã, achado aberta a porta do céu, tomado posse de seus picos enevoados e descoberto, tarde demais, que haviam sido ludibriados por aqueles que tinham os pés na terra firme, bem lá embaixo? “É até uma imagem e tanto!”, ouvi um executivo da indústria cinematográfica dizer a uma mendiga que, carregando uma criança ossuda pendurada em seu peito seco, ousou estender-lhe o braço ressequido diante do Copacabana Palace.
Contudo, para Dick e para mim era fácil aliviar nossa consciência com alguns cruzeiros - e talvez igualmente ingênuo. As quadrilhas de despudorados batedores de carteiras e os aleijados que, com violência, defendiam seu território contra rivais também me lembravam Xangai, onde mendigos ricos tinham guarda-costas para protegê-los. Também Xangai tinha sido uma cidade incrível, talvez a primeira de todas, construída deliberadamente pelo Ocidente como uma metrópole-piloto do futuro. Londres, nos anos 60, tinha sido a segunda, com as mesmas confusões de imagem e realidade, o mesmo superaquecimento.
No Rio, a ficção e a realidade se perseguiam mutuamente. Numa festa oferecida pela embaixada americana, demos conosco numa fila de cumprimentos a apertar as mãos da tripulação da espaçonave Enterprise, um grupo de atores encanecidos, que pareciam veneráveis agentes funerários. Estávamos cercados de rostos famosos, imitações mais velhas e sem sucesso de si mesmos. Esforçando-me por conversar banalidades com a mulher de um produtor, achei que também eu era um impostor, a fazer-me passar por mim mesmo de maneira pouco convincente. Fiquei satisfeito quando começou o espetáculo de fogos, grato pela música ensurdecedora que transformava as conversas em gritos ininteligíveis.
Vindo em meu socorro, Dick avançou pela multidão e me pegou pelo braço.
- Jim, venha conhecer Fritz Lang...
Dick embarafustou-se pela massa de smokings, avançando na direção de um grupo de mais ou menos vinte convidados que tinham os olhos fitos no que parecia ser a cena de um pequeno acidente. Um homem idoso, com um smoking muito grande, estava sentado numa cadeira de espaldar reto, virado de lado para a parede. Parecia um boneco de ventríloquo abandonado, atordoado pelo barulho e pela música, os fogos de artifício a tingir-lhe os cabelos grisalhos de vivos tons de azul e verde. Era como se o invadisse uma fadiga infinita, e passou por minha cabeça que ele poderia ter morrido no meio daquela espalhafatosa gente de cinema. Quando lhe apertei a mão e lhe disse rapidamente o quanto admirava seus filmes, ele balbuciou uma resposta. Um brilho irônico faiscou em seu olho, como se o diretor de Metrópole houvesse compreendido que a cidade inexistente por ele visualizada se tivesse concretizado do modo menos esperado.
Lembrei-me do humor resignado de Lang ao terminarmos nossos Collins no Copacabana Palace e sairmos para a sala de conferência, onde se realizava a mostra de filmes científicos e documentários, um evento paralelo ao festival que os organizadores tinham resolvido patrocinar como tributo ao épico filme de ficção científica de Kubrick. Um bando de fãs se juntou em torno de nós ao pegarmos um táxi, e Dick se animou momentaneamente até compreendermos que quase todos eram batedores de carteiras, propagandistas de bordéis e anunciantes de candomblés.
- Ei, mister, quer candomblé? Candomblé de verdade?
- Mister, quer ver um sujeito transar com uma galinha?
- Só de dez anos, mister. Garotinhas limpas. Fechamos as janelas contra uma floresta de braços.
- Muito bem, Dick-falei. - Está a fim? Não é exatamente como os filmes sobre a natureza que passam todo dia na BBC.
- Espere para ver... Talvez tenha uma surpresa, Jim. Até mesmo você.
Oferecendo a Dick meu apoio moral, assisti à sua palestra e aos debates por ele presididos, fascinado como sempre pela maneira como ele dominava a platéia como um experiente artista de music-hall. No entanto, seu desempenho parecia estranhamente contido, como se ele estivesse tentando se livrar do repertório de maneirismos televisivos que cultivara com tanto cuidado desde os tempos de Cambridge. De vez em quando, ao reagir ao riso da platéia, ele olhava para as pessoas do mesmo jeito cansado que Fritz Lang havia recebido meu aperto de mão. O Rio estava cheio de velhos atores presos às imagens que faziam de si mesmos.
O laboratório de Dick no Instituto de Psicologia era agora pouco mais do que um escritório de relações públicas, e Cleo me contara que ele havia, em segredo, ocupado uma mesa no laboratório de um colega, para poder voltar à pesquisa original. Às vezes ficava sentado ali por uma hora, naquele santuário erigido a seu eu mais jovem, ainda incapaz de propor um só projeto original. Depois voltava para seu próprio laboratório e se tornava o relutante porta-voz da psicologia popular, alimentando os produtores de tevê com notícias sobre os mais recentes progressos da psicologia. Eu admirava Dick, e arrependi-me de tê-lo sempre estimulado a encarar o mundo da tevê como seu verdadeiro laboratório. Às vezes, quando eu lhe perguntava sobre suas próprias pesquisas, ele se mostrava quase irascível.
Mais tarde, vagando pelos largos corredores onde eram exibidos os filmes fora de competição, surpreendeu-me a variedade de documentários que estavam sendo produzidos. Deles, somente uma fração chegaria algum dia ao grande público. Jardins zoológicos, faculdades de odontologia, escolas de cabeleireiros e um consórcio de agentes funerários e embalsamadores - todos esses grupos contavam com ativas unidades de cinema.
Na penumbra, os delegados, em mangas de camisa, postavam-se junto das fileiras de telas, vendo estudos sobre o trem de aterrissagem dianteiro do Boeing 707, as fraturas de jogadores de hóquei, o ciclo vital do sapo e a arquitetura de bordéis. Ao desviar a atenção do close-up de um septo nasal exposto para outro filme, sobre a curtição de peles de zibelina, as duas imagens como que se fundiram em minha mente. Estariam todos aqueles filmes se encaminhando, à sua maneira redutiva, para o mesmo fim indiferenciado? Destituída de emoção e juízo de valor, a objetiva da câmara científica anatomizava o mundo a seu redor como um paciente e meditativo voyeur.
Era nos filmes de medicina e psicologia que o processo podia ser percebido com mais nitidez. Na seção de competição da mostra, vi Dick discorrer sobre o programa da tarde, que tratava do tema “Terapia de aversão: dessensibilização na percepção de imagens sexuais”. Os três filmes descreviam trabalhos realizados na Suécia, no Japão e nos Estados Unidos, com infratores sexuais contumazes. Nessas pesquisas exibiam-se a esses homens soturnos uma longa série de imagens de vítimas potenciais - crianças pequenas, mulheres vulneráveis, membros de minorias raciais e outros infratores sexuais. A idéia era a de que doses de drogas eméticas, correntes elétricas, ruídos e outros condicionamentos fizessem aqueles infratores sentirem aversão pelos objetos de seu desejo.
À medida que se sucediam as seqüências de imagens dolorosas, desviei os olhos da tela para a platéia, formada na maior parte por documentaristas profissionais e psicólogos. Fitavam a tela com a mesma fixidez e a mesma expressão inabalável dos homens que freqüentavam as salas de pornografia do Soho ou dos fãs de certos tipos de ficção científica apocalíptica. Sempre que os criminosos se contraíam de dor ou vomitavam, murmúrios de apreciação corriam pela platéia. O mesmo acontecia diante de algum ângulo de câmara particularmente ousado ou de um close-up exibicionista, tal como os clientes do Soho aplaudiam uma despudorada exibição de órgãos genitais ou uma bem executada penetração anal.
Mais tarde, quando voltamos para o hotel em Copacabana e nosso primeiro daiquiri gelado da noite, comentei com Dick:
- Estou precisando disso. Devíamos ter ido ao candomblé. Foi uma tarde e tanto.
- Material repugnante?
- Estive observando a platéia. O futuro poderá ser parecido com um festival de cinema, mas, de que cinema? O seu ou aquele dessa ponta da praia? Os olhos deles pareciam os de turistas num campo de concentração onde se exterminavam judeus, o tipo de turista que sempre retorna a esses lugares.
- Nós o deixamos chocado, Jim... Só por isso, já valeu a pena você ter vindo ao Rio.-Feliz por ter-me pegado desprevenido, Dick me olhou de esguelha por cima do copo. A rivalidade entre nós, que por motivos pessoais ele sempre incentivara, se tornara mais aberta no Rio. - É interessante que filmes científicos o deixem mais perturbado do que a pornografia escancarada.
- Acontece que, na realidade, a pornografia é muito casta... é o sonho deserotizado que o corpo tem de si mesmo. Mas aqueles filmes vêm diretamente do hospital de psicopatas. Imagine só qual seria a sua reação se você os encontrasse na filmoteca de um criminoso sexual.
- E daí...? Imagine um conjunto de instrumentos cirúrgicos. Inocentes num anfiteatro de hospital, mas... e na bolsa de uma maníaca assassina? Você os está vendo fora de contexto.
- Nada é visto mais no contexto. Ligue seu televisor, Dick, e você dá com um primeiro-ministro assassinado, uma criança comendo uma barra de chocolate, Marilyn levantando a saia... Que tipo de cenário a mente está montando com esses dados?
- Talvez fosse interessante saber. Diga-me.
- Uma das revistas de moda de Cleo mostrou modelos fotografadas diante de uma ampliação do filme de Zapruder. Você acha normal o assassinato de Kennedy servir de fundo para fotos de moda?
- Claro. No futuro todo mundo vai precisar de um crítico de cinema para entender seja lá o que for.
- Não um psicólogo? - Sua observação me surpreendeu. - É claro que você...
- Não, acho que os psicólogos já tiveram sua oportunidade... Dick olhou friamente para o outro lado do terraço lotado do Luxor, observando os delegados que espaireciam e os fotógrafos à cata de alguma celebridade. Apesar de seu sucesso naquela tarde, ele parecia insatisfeito, como se resignado a aceitar que a época da televisão popular, em cujo quintal seguro ele tinha florescido, em breve seria substituída por um mundo mais duro e mais aberto, um universo de comunicações em constante mutação no qual a fama era efêmera como uma rosa. Como um astronauta incapaz de prender-se por um cabo à superfície da Lua, ele ansiava por uma gravidade mais forte. A necessidade de atenção o levara a saltar cada vez mais alto na poeira rarefeita da celebridade, e agora não havia nada que o puxasse para baixo. Com freqüência ele me perguntava como iam as crianças na escola, e ficava satisfeito ao saber que tinham boas notas. Era visível a inveja que sentia de minha vida familiar. Não se casara, e suas amigas passavam por sua vida como participantes de um show de televisão - alegres, otimistas e logo esquecidas. Até mesmo o fascínio delas por Dick nunca era suficiente.
- Dr. Sutherland... nós vimos sua entrevista. Sem dúvida, o mais simpático psicólogo do Rio...
Uma voz untuosa saudou Dick do outro lado do terraço. Marcial Pereira, conhecido crítico de cinema de um jornal carioca, aproximou-se de nossa mesa, acompanhado por duas beldades de Copacabana. Reconhecera Dick pela entrevista que ele dera na noite anterior a uma estação de tevê. Veio à nossa mesa com as companheiras, que nos avaliaram com olhares de imperatrizes. Como todas as mulheres do Rio, tinham tanta personalidade, elegância e ardente beleza que somente algum inexplicável descuido impedira que fizessem carreira em Hollywood.
- Vamos dar uma festa esta noite, em meu apartamento de Ipanema - disse Pereira. - Um carro do festival vai pegar vocês às dez horas. A cada dia que passa temos de relaxar um pouco mais. Deixo vocês com minhas amigas atrizes... Carmem e Fortunata. Estão ansiosas por conhecer ingleses.
Depois que ele saiu, as moças se instalaram em nossa mesa, cruzando os olhares ao inspecionar rapidamente o terraço apinhado. Ambas usavam vestidos largos de seda que lhe revelavam as coxas e os ombros. Eram pouco mais velhas do que minhas filhas, e tinham o mesmo domínio sobre o espaço que as rodeava. Os cabelos escuros de Carmem brotavam de um perfil anguloso que tinha muito, ao mesmo tempo, de português e índio. Tinha a testa perpetuamente franzida, como se vivesse à procura de uma explicação para o mundo. Sua amiga Fortunata, uma loura passiva e de seios exuberantes, estava à espera do sinal para sair, mas Dick, excitado pelo perfume inebriante das moças, já estava pedindo bebidas e procurando comunicar-se com elas em inglês.
- Você mora no Rio? Aqui?
- Na praia? Não. - Carmem estava tomando nota do sorriso televisivo de Dick, de seu medalhão de ouro e de seus cartões de crédito.
- Somos de São Paulo. Viemos para o festival.
- Nós também. Somos de Londres... Inglaterra.
- Ah, Londres... Carmem e eu um dia vamos a Londres. - Fortunata ensimesmou-se, enxergando na imaginação alguma cena de Carnaby Street, no fim da qual estavam os Beatles e os Rolling Stones. Falava com ansiedade, como se não tivesse certeza de que Carmem concordaria.
- O Rio é muito melhor - garantiu-lhe Dick. - Muitas mulheres bonitas. Como vocês duas.
- É... Há muita mulher no Rio. - Carmem falava no tom de um vendedor num mercado em baixa. - Preferem mulheres bonitas?
- Claro. Principalmente no Rio.
- Você é atriz? - perguntei. - Já fez filmes?
- Sou. Eu faço filmes. Com Fortunata.
Ela respondeu com naturalidade. Concluí que eram prostitutas paulistas de visita ao Rio, atraídas pela possibilidade de ganho. Fiquei à espera de que Dick entendesse que só havia uma maneira de impressioná-las. Carmem tamborilava no tampo da mesa com uma das mãos, enquanto a outra brincava com a alça do vestido. Estava expondo o seio para mim, ao mesmo tempo em que deixava subir a bainha do vestido.
Lembrei-me dos anos de juventude de Marilyn Monroe, na periferia da prostituição. Eu tinha apertado a mão do grande Fritz Lang e da tripulação da astronave Enterprise, mas aquela impassível putinha de praia seria meu contato real com a indústria internacional do cinema. Talvez ela tivesse feito comerciais de tevê, anunciando ração de cachorro ou um supermercado.
Levantei os olhos, dos seios para seu rosto. Dick estava à espera que eu tomasse a iniciativa. Desde nossa chegada ao Rio ele mal tirava os olhos das mulheres que passavam pelas calçadas daquela cidade onde tudo era imoderado, mas eu sabia que a idéia de sexo sempre o excitava mais do que o ato propriamente dito. Durante anos eu imaginara que ele e Miriam tinham sido amantes em Cambridge, uma suspeita que ela sempre negara, mas Dick sutilmente encorajara.
Carmem mexia na alça do vestido com o dedo, como um violonista enfastiado que tentasse lembrar-se de uma música para tocar. Fortunata alisava a saia com as mãos largas de uma criança dócil.
- Onde estão hospedadas? - perguntei. - Aqui em Copacabana?
- Vamos a nosso apartamento. - Carmem apontou para uma rua próxima. - Vocês têm dólares? Uma hora, duas horas...
- Dick, que tal? Dinheiro em troca de tempo. Vamos?
- Claro. O dinheiro é o relógio digital original...
Saímos do Luxor e nos metemos entre a multidão na avenida Atlântica, passando pelos mendigos e os vendedores de jóias, os taxistas que atraíam clientes para boates. Carmem ia na frente, com suas pernas compridas. Saiu andando entre os carros parados quando chegamos a uma rua lateral, evitando as centenas de gigolôs na calçada, cada qual com sua mulher. A prostituição movia o Rio, era o seu motor. Na noite de nossa chegada, ao passar por aquela rua pela primeira vez, eu ficara impressionado com a simpatia daqueles incontáveis casais que conversavam cordialmente nas calçadas largas, um tributo à felicidade conjugai daquela cidade feliz. Entretanto, os maridos estavam fazendo propaganda de suas mulheres, como se fossem fardos de tecido. Free-lancers e caçadoras de festivais, como Fortunata e Carmem. Tinham de enfrentar os riscos das ruas congestionadas.
Esquivamo-nos entre os carros e entramos no saguão de um enorme edifício de apartamentos baratos. Ao lado dos botões de interfones, centenas de escaninhos de correspondência se superpunham. Um minúsculo elevador nos conduziu a um andar alto, que se estendia infinitamente na semi-obscuridade, com dezenas de portas. Suaremos, os inquilinos espaireciam do lado de fora de seus pequenos apartamentos. Crianças brincavam na penumbra, e uma úmida fauna de corredor sobrevivia como fungos numa caverna. Homens de camisetas e cuecas recostavam-se nas paredes, mães penteavam os cabelos de filhas, velhas trabalhavam em mesas de cavaletes.
Ao chegar à porta de seu apartamento, Carmem virou-se, com a chave na mão, e olhou para mim. Durante o breve percurso desde o hotel, ela se esquecera de meu rosto. Esperou que um velho curioso se afastasse.
- Muito bem, vamos ver. Cinqüenta dólares.
- É muito dinheiro.
- Para as duas. Pelo tempo que quiserem. Depois vamos à festa do Pereira em Ipanema.
- Está bem para você, Dick?-Eleja estava com o braço em volta de Fortunata, enquanto eu abria a carteira. Brincava jovialmente com a moça, como fazia com minhas filhas.
Carmem meteu as cédulas na bolsa e abriu a porta de uma sala atravancada. Três mulheres de meia-idade e uma criança pequena trabalhavam junto de uma mesa de cavalete, cercadas por pilhas de sacolas de plástico. Estavam confeccionando lembranças baratas do festival de cinema: costuravam fotografias de estrelas de cinema, coladas em cartão, em molduras douradas de papier-mâché ou montavam papagaios de papel, alusivos ao festival, a partir de componentes prontos que tiravam das sacolas. Caixas de papelão abertas, enfileiradas metodicamente pela criança sobre o surrado sofá, continham centenas de fivelas de cintos com motivos de cinema, buttons de 2001 e outros badulaques. Sacolas de componentes e sobressalentes enchiam a quitinete ou se amontoavam em torno da pia do banheiro.
- Espere um pouco... - Virei-me para Dick. - Vamos voltar para o hotel.
- Não.-Carmem puxou meu braço com uma força surpreendente. Apontou para o quarto do apartamento. - Vamos entrar... é só para nós.
Uma das mulheres, que tinha um grampeador na mão, olhou-nos desinteressada e meteu um grampo na testa de Elvis Presley. Enquanto Carmem abria a porta do quarto, imaginei que ela e Fortunata deviam alugá-lo de dia. Junto da cama de casal, janelas sujas davam para as áreas de serviço de um enorme edifício, outro conjunto de apartamentos baratos daquela cidade onde os pobres eram empurrados para o céu. Todas as áreas estavam cheias de gaiolas de passarinhos e caixas de papelão, varais de roupa e móveis abandonados.
- Muito bem. Agora vamos brincar.
Carmem tentou fechar a porta, mas Dick e eu olhávamos, contrafei-tos, para a porta. Os lençóis amarrotados estavam manchados de suor e batom, os travesseiros cobertos por uma película brilhosa de rimei e geléia anticoncepcional. De uma penteadeira de pinho pendiam peças íntimas, e no chão, ao lado da cama, havia uma dúzia de lenços de papel, cada qual amassado em torno de uma mancha de secreção. A cena era observada impassivelmente por uma pequena filmadora num tripé. Perto dela, numa prateleira de parede, empilhavam-se caixas de filme Kodak.
- Jim, você vai pegar alguma doença... - Dick fechou a cara para mim, virando-se na direção da porta. Mantinha o braço em torno de Fortunata, mas o interesse pela aventura tinha arrefecido. Seus olhos haviam recuado no rosto bem-feito, e ele parecia ter envelhecido desde o momento em que deixara o hotel. A filmadora barata o ameaçava de um modo que ele nunca experimentara no Centro de Televisão da BBC, com suas lentes flous e lisonjeiras. Surpreendia-me vê-lo tão obviamente fora de seu elemento, e não atinava com a razão pela qual ele me pusera nas mãos das duas prostitutas. Talvez esperasse me ver passar por alguma pequena humilhação que, sem abalar nossa amizade, o deixasse numa posição de domínio.
Na sala, o grampeador furava o rosto dos astros de cinema. Sem se perturbarem com nossa presença, as mulheres labutavam sobre a mesa, repreendendo a criança de vez em quando. Um velho de camiseta entrou no apartamento, tentou lembrar-se de alguma coisa, mas voltou a sair para o corredor.
- Jim, precisamos de outro quarto, não podemos...
- Não...-O rosto de Fortunata se iluminou, e ela puxou Dick para a cama. - É bom... Todos juntos.
Apontando para as mulheres que trabalhavam, eu disse a Carmem:
- Pergunte às mulheres se podemos usar o quarto delas... só por uma hora.
- Elas têm que trabalhar, estão muito atarefadas.
- Dou a elas dez dólares. Elas merecem um descanso. Diga a elas para irem ao cinema.
- Está certo. Vou dizer.
Carmem falou às mulheres, que olharam para mim, intrigadas com tal demonstração de acanhamento. Puseram os instrumentos na mesa, meteram o dinheiro numa bolsa e encaminharam-se para o corredor. No momento em que Carmem fechou a porta, vi que elas se encostavam na parede descascada do corredor e que acendiam cigarros, preparando-se para esperar que acabássemos.
Dick havia empurrado uma bandeja de buttons de cinema para o chão, e se sentou com Fortunata nas almofadas do sofá. A moça deixara cair as alças do vestido. Com um leve sorriso, ele simulava admirar o peso e a curvatura de seus exuberantes seios brancos, como um quitandeiro que examinasse uma nova variedade de melão albino. Fortunata beliscou os bicos dos seios com pequenos arquejos, e eu fechei a porta do quarto.
Carmem descalçou os sapatos de salto alto e pendurou o vestido no guarda-roupa, escovando a seda com um cuidado de boa dona de casa. Estendeu a mão desocupada e habilmente soltou a fivela de meu cinto.
- Está bem. É muito bom.
Despi-me a seu lado, consciente de que ela me engambelava. Era o tempo, não o dinheiro, que dominava a vida de uma prostituta. Uma boa sessão de sexo com elas exigia uma bossa toda especial. Uma adolescente com um gato nos braços me observava de uma área de serviço, a mais ou menos dez metros. Enquanto eu puxava a cortina, Carmem tirou um aplicador de espermicida da gaveta da penteadeira. Aparafusando-o no tubo aberto, espremeu uns oito centímetros de geléia no aplicador. Pôs uma perna em cima da cama, separou os grandes lábios com os dedos e introduziu o instrumento na vagina. Apertou o embolo, retirou o aplicador e limpou os dedos no lençol.
Enquanto a esperava, virei a objetiva da filmadora para a cama.
- Quer que eu faça um filme? - perguntou Carmem.
- Você nos filmaria aqui?
- É bom, de quatro minutos. Fica por só cem dólares. Você vai poder mostrar à sua namorada. Ou sua mulher.
- Minha mulher?
- É. Muita gente gosta, é bom.
Sentei-me na cama, olhando para meu reflexo na lente da máquina. Do outro lado da porta, eu escutava o riso de Dick, que corria atrás de Fortunata na sala, e os gritos das mulheres no corredor, brigando com a criança. Em comparação, o quarto era um palco. Aquela jovem prostituta, os lençóis manchados e os lenços de papel com que ela limpara da vulva o esperma de seus clientes, uma isca atrativa para futuros fregueses - tudo isso parecia acessórios para uma filmagem. A presença da filmadora transformava e até dignificava aquele quarto sórdido.
Ao nos deitarmos nos lençóis sujos, perguntei:
- Você já participou de outros filmes?
- Claro! Muitos filmes... -Ela ficou séria, demonstrando a pouca importância da filmadora ao lado da cama com um gesto de desdém. Segurou meu pênis, flácido, com as mãos. - Eu faço muitos filmes... Estou trabalhando com um diretor de verdade.
- Muito bem. - Eu adivinhava que tipo de estúdio era esse. - Sr. Pereira?
- Pereira... aargh! - Carmem fez uma careta ao ouvir o nome do crítico de cinema. - Os filmes dele... não limpos.
Afastei os cabelos de sua testa impetuosa, admirando-lhe a determinação.
- Você vai trabalhar para outros diretores. Um dia vai ser uma estrela.
- Vou sim... - Sem atentar para a dúvida em meu tom de voz, ela lambeu os dedos e alisou as sobrancelhas, fitando com resolução o futuro que se estendia além das paredes daquele quarto alugado. Ao tatear os lábios em busca de um ponto sensível, os músculos de seu rosto se contraíram, dando-lhe uma expressão de comovente confiança.
Depois ela voltou a atenção para mim, deitado a seu lado, e balançou a cabeça ao notar minha débil ereção. Levou a mão ao seio esquerdo e manipulou-lhe o bico com as unhas afiadas, até ele se pôr ereto. Erguen-do-o até minha boca, apertou sua massa quente contra meu nariz e meu queixo, pôs minha mão em suas nádegas e conduziu meus dedos até o ânus, empurrando a ponta do anular na carne macia. Depois pegou meu membro pela base, à procura da próstata. Quando o órgão ganhou vida ela sacudiu a cabeça encorajadoramente, fez com que meus olhos se mantivessem fixos em seus seios e meus dedos em seu ânus. Com braços fortes, virou-me de costas e acocorou-se sobre mim, de modo que a única parte de seu corpo que me tocava era a vulva.
Como uma pescadora sobre um buraco no gelo, esperando paciente por um peixe, ela se pôs a mexer sobre os calcanhares, com a ponta de meu pênis entre os grandes lábios. Finalmente, quando o ângulo do membro e do púbis lhe satisfez, ela baixou o corpo e deixou que meu pênis entrasse em sua vagina. Começou então a se movimentar energicamente, olhando para si mesma, rapidamente, no espelho da penteadeira; de vez em quando, afastava os cabelos de cima dos olhos.
Segurei-lhe as coxas fortes, pensando em que ela estava trabalhando com o mesmo afinco das mulheres mais velhas, que montavam os souvenires. Todos nós, incluindo eu, evidentemente, estávamos trabalhando para que o festival de cinema fosse um sucesso. Até a filmadora vazia, em cuja lente nossa imagem se refletia, ajudara a dar forma a nosso ato sexual. Ao alisar as sobrancelhas, Carmem estava expondo seu perfil para a objetiva, preparando-se para os filmes de sexo, mais elaborados, em que tomaria parte. Estendido entre suas coxas, eu era pouco mais do que um extra recrutado nos bares de hotel em Copacabana. Quando ela se levantou, brincou comigo, segurando a ponta de meu pênis entre seus seios, e eu quase senti que estávamos encenando uma pequena variação de um número fixo.
Com seu despotismo passivo e discreto, a filmadora governava os menores espaços de nossas vidas. Mesmo na privacidade de nossos lares, todos tínhamos sido recrutados para representar nossos papéis naquilo que era pouco mais do que comerciais da vida real. Ao cozinharmos em nossas cozinhas, tínhamos o cuidado de seguir as instruções do fabricante; ao fazermos amor em nossos quartos, cumpríamos um repertório familiar de gestos e afeições. O cinema havia transformado, a todos nós, em atores secundários de um seriado interminável. No futuro, aviões de passageiros se acidentariam e presidentes seriam assassinados de acordo com convenções prévias, tão formalizadas quanto a coroação de um czar.
Quando gozei, com o rosto comprimido contra o travesseiro esper-micida, Carmem sacudiu a cabeça num gesto impessoal. Afastou de mim os seios e separou a vulva de meu pênis, como uma técnica que desligasse um sistema de sobrevivência. Com o corpo brilhante de meu suor, saiu da cama e abriu a porta para a sala, onde Dick e Fortunata se divertiam atirando souvenires de plástico um no outro. Dick, notei, não tinha tirado a roupa.
Carmem os observou sem expressão e fechou a porta. Tirou um lenço de papel da caixa sobre a penteadeira. Fez um gesto com o polegar e disse:
- Ele não trepa.
Habilmente, recolheu meu sêmen de sua vulva, enxugou um fio que lhe escorria pela coxa, e depois amassou o lenço, que jogou cuidadosamente no chão, junto da filmadora, como uma pequena oferenda àquele inquisidor caolho.
Mais tarde, na mesma noite, vi Carmem sob a lente de uma câmara muito diferente. Como prometido, o carro do festival chegou ao Luxor para nos levar à festa de Marcial Pereira, em Ipanema. Outro convidado, um distribuidor holandês, dividia o carro conosco. Ele e Dick conversaram animadamente enquanto seguíamos pela avenida Copacabana, apontando para os cinemas diante dos quais se juntavam multidões, as prostitutas e os gigolôs caminhando de braços dados entre os flashes dos fotógrafos, e os turistas de passagem assombrados com a polícia do Rio, que controlava seis pistas de trânsito, ao mesmo tempo em que prendia um ou outro batedor de carteiras ou multava motoristas que haviam estacionado irregularmente.
Durante todo o jantar Dick revelara um inabalável bom humor, ao passo que eu me sentia vagamente deprimido. Com saudade das crianças, telefonei para Cleo Churchill, que se dispusera a tomar conta delas enquanto eu estivesse fora. Conversei com cada um dos três, emocionando-me ao ouvi-los falar de seus triunfos e aventuras do dia, de um aeromodelo que se perdera no rio e de um esquilo manso que aparecera no jardim. Ouvindo-os, tive vontade de pôr o fone no gancho e correr para o aeroporto. Cleo falou comigo por fim, assegurando que tudo ia bem e que as crianças nem pensavam em mim.
- Não tenha pressa de voltar... Eles estão se divertindo como nunca. Espero que você e Dick estejam se comportando bastante mal.
- Eu estou, mas Dick tem estado muito ocupado dando entrevistas para a tevê. Todo mundo concorda que hoje, no Rio, ele é o psicólogo mais preocupado com sexo.
- Em Londres também. Traga Dick de volta inteiro. Lembrei-me de Dick pulando na sala onde as mulheres trabalhavam, e de Fortunata com os buttons de Jane Fonda e Brigitte Bardot colados nos bicos dos seios, o rosto de Robert Redford preso no púbis. Dick olhava, mas não tocava. No entanto, eu estava deprimido e ele a pleno vapor. Uma certa reserva marcava agora sua atitude em relação a mim, como se eu tivesse falhado num teste importante. Eu havia sempre relutado a aparecer na televisão, uma timidez que o divertia e que ele atribuía a uma faceta antiquada de minha personalidade. Evidentemente, eu estava preso demais ao terreno, às realidades contingentes de uma esposa, filhos e desejo, ao medo da morte e à angústia do espaço-tempo. Dick se distanciara de tudo isso, aceitando que a imagem eletrônica de si mesmo era a real e que sua personalidade fora da tela era a de um ator ambicioso, mas modesto, que se apresentara com sucesso num teste para um papel muito mais sedutor. Ele podia entrevistar Carmem e Fortunata, mas jamais quebraria o encanto por tocá-las ou precisar delas.
Ao vê-lo se divertir no carro, pensei que ele era o precursor de um tipo avançado de ser humano. Se um dia o mundo se convertesse num festival de cinema, todos os seus habitantes seriam parecidos com Dick Sutherland. A televisão o tornara impotente, mas talvez seu verdadeiro papel, em termos evolucionários, fosse o de despovoar um planeta super-povoado. A objetiva da câmara era nosso meio de nos separarmos uns dos outros, apartando-nos de nossas mútuas emoções. Olhando para as ruas hiperexuberantes, ocorreu-me que no Rio as pessoas não se divertiam, e sim passavam uma imagem de diversão.
Exceto, talvez, na festa de Pereira. O terraço e as salas do apartamento duplex pareciam girar como uma boate-satélite em órbita sobre o Rio, cheio de suntuosas mesas de bufê, roletas e um espetáculo de fogos. Centenas de convidados dançavam ao som de uma orquestra de maracas, celebrando o réveillon do ano 2000. Banqueiros idosos, que pareciam estar representando eminentes extras de filmes, afáveis gângsteres cariocas, mais belos do que qualquer astro do cinema, e elegantes magnatas do ramo imobiliário, que pareciam prostitutos caros, misturavam-se a um escalão inferior de agentes de talentos, jornalistas e executivos da televisão, que formavam o proletariado dos super-ricos.
Por cima das vozes afetadas pela cocaína e dos fogos de artifício no terraço, gritei para o holandês:
- Parece que esta festa já dura desde o festival do ano passado. Os críticos de cinema do Rio vivem em grande estilo.
- Pereira é muito mais do que crítico de cinema. Tem participação numa emissora de tevê, em vários negócios e é até dono de uma produtora.
Descobri mais tarde que tipo de filme era feito pela produtora de Pereira. Dick estava dançando com a mulher mais fascinante da festa, de idade indefinida entre dezesseis e sessenta, e cujo vestido teria custado a receita de um cassino de Las Vegas. O holandês e eu tínhamos ficado conversando com uma diretora de elenco americana e seu marido, que estavam imaginando a tarefa impossível de substituir os convidados da festa por integrantes da lista mundial de atores coadjuvantes. Depois de nos servirmos no bufê, saímos à procura de Dick.
Do lado de fora da sala de jantar, transformada em discoteca, deparei com uma loura, que me pareceu conhecida, e que subia a escada para o andar superior.
- Conhece Fortunata? - perguntou o holandês. - Ela está tentando participar dos filmes de Pereira.
- Ela não sabe representar? Qual é o problema?
- Não, ela é burra, mas representa bem... e esse é o problema. Os filmes de Pereira precisam de atores que sejam obviamente amadores. Eles usam um novo tipo de realismo.
O andar de cima do duplex terminava numa varanda envidraçada. Vários convidados se comprimiam no corrimão, contemplando o mar na direção das luzes de Copacabana, do Pão de Açúcar e da gigantesca estátua iluminada do Cristo Redentor. Mas Fortunata entrara por um pequeno corredor que, passando por uma pequena cozinha e um lavabo, levava aos quartos dos fundos. Diante de uma porta trancada havia um segurança fardado, que conversava com um dos gângsteres amigos de Pereira. Deixou Fortunata passar, com um comentário a respeito de um defeito em sua maquilagem. Como ela sorriu para mim, fechando um estojo de pó com um estalido, ele supôs que eu estivesse com ela e fez sinal para que passássemos.
Tínhamos entrado numa suíte privada. Um escritório, com mesas e arquivos, servia como depósito temporário dos móveis tirados dos cômodos utilizados para a festa. Num canto da peça havia equipamentos de cinema, refletores e sombrinhas prateadas, ao lado de dois sofás de plástico, um rolo de carpete de náilon azul-turquesa e um espalhafatoso edredom, do tipo usado como decoração em motéis de segunda.
Fortunata abriu outra porta e passou para outro corredor, onde refletores possantes iluminavam um cenário emoldurado por uma arcada. Dois homens trajados a rigor e uma mulher, em vestido de baile e com um copo na mão, olhavam para as luzes. Fortunata juntou-se a eles, franzindo a testa ao ouvir um cachorro latir de dor e seu tratador gritar com ele.
Quando o animal se aquietou, gemendo lamentosamente, Fortunata entrou no cômodo. Por cima do ombro do holandês, eu entrevia os rostos de alguns técnicos de filmagem. Convidados vestidos a rigor estavam encostados nas paredes, e Pereira fazia sinais para o operador da câmara. Dirigiu um gesto impaciente para o engenheiro de som, que se chegava para a frente com um microfone, tentando captar os latidos patéticos do cão. O nervoso pastor-alemão era altemadamente acalmado e maltratado pelo tratador, um homem baixo de seus sessenta anos, em mangas de camisa e de bigodinho. As luzes intensas, os movimentos agitados do técnico de som e os dedos do tratador, que lhe afagavam os testículos, tinham perturbado o animal. Ele forçava a guia, querendo ir embora, e suas patas deslizavam no piso de ladrilhos.
Diante do cão, a equipe montara um pequeno cenário, formado por uma vistosa cama de casal com cabeceira acolchoada, uma penteadeira barata e um abajur de plástico vermelho. Ao lado da cama estava ajoelhada uma mulher nua, que não escondia a impaciência. As luzes fortes tinham obliterado todos os tons de sua pele, que pareciam o látex de uma boneca inflada. No momento em que ela sacudiu os cabelos longos e olhou, furiosa, para Pereira, reconheci o perfil anguloso de Carmem. O cão se esforçava para livrar-se da coleira e ela deu um tapa no chão, gritando um palavrão em português. Pereira procurou tranqüilizá-la, mas ela o fitou com indisfarçada antipatia, como se lamentasse ter concordado, a contragosto, em participar de um filme com aquele produtor incompetente.
O cão farejou as nádegas de Carmem e suas orelhas se retesaram. O tratador disse-lhe alguma coisa no ouvido, massageando-lhe o pênis com uma das mãos e afastando o rabo peludo de seu rosto. Com uma expressão de fingida resignação, Carmem olhou para os espectadores reunidos junto da parede. Seguiram-se gestos de solidariedade, expressões que deploravam a inabilidade do tratador e a falta de virilidade do animal.
O engenheiro de som deu um passo à frente com o microfone, e o operador de câmara ajustou o visor. As luzes se intensificaram, tornando invisíveis os rostos dos espectadores. O cão se aproximou, orientado pelo tratador, que o segurava pelos testículos, e escorregando no piso. Carmem ergueu a palma da mão, afastou uma irritante partícula de pó e depois olhou criticamente para a massa negra de sua sombra.
Três dias depois, eu estava na escada do centro de conferências, esperando para me despedir de Dick Sutherland antes de embarcar de volta a Londres. Ao se dispersar a platéia, depois do debate televisado que ele presidira, eu o perdera de vista. Desistindo, já estava para pegar um táxi quando vi que ele saía do edifício com Marcial Pereira. O crítico falava animadamente, agradecendo a Dick por sua palestra e pelas poucas palavras em português que ele decorara para dizer.
Na porta, atrás de Pereira, com seu vestido de seda iluminado pelos monitores de tevê que exibiam os filmes científicos, Carmem praticava seu inglês com uma das moças encarregadas da tradução simultânea. Pereira se despediu de Dick. Carmem se adiantou e, sorridente, pegou o crítico pelo braço. Entraram juntos num carro que os aguardava.
- Dick, nós nos veremos em Shepperton. Carmem parece feliz... Eu pensei que ela detestasse Pereira.
- E com razão. Mas ela acha que sua carreira está deslanchando... Ao que parece, fez um filme com um cachorro. Pereira queria me mostrar o copião. Fez muito sucesso com os distribuidores.
- Lassie voltou para casa, tudo foi perdoado...
- É esse o título? Se depender de mim, não terá espectadores.
- É isso aí, Dick.
Dick olhou para o Cristo do Corcovado. Endireitou os ombros, cheio de ânimo, imaginando-se a estrela máxima da televisão. Na praia de Copacabana, vendedores ambulantes empinavam seus papagaios de papel, alusivos ao festival, sobre as cabeças dos jogadores de futebol, apregoavam os buttons com imagens de artistas de cinema e as fivelas de cinto. A mendiga da favela e seu filho aleijado se escondiam entre os carros diante do Copacabana Palace, prontos a atacar um desprevenido executivo do cinema. Nos corredores refrigerados do centro de conferências, os filmes científicos enchiam as telas dos terminais de tevê com seus doses de trens de aterrissagem dianteiros, septos nasais e medidores de dor, uma vasta pornografia latente à espera de ser despertada pela magia da fama.
E freqüente que as instituições psiquiátricas, tais como as prisões com que se assemelham, ganhem nomes muito pouco apropriados. Era nisso que eu pensava ao atravessar os portões do Summerfield Hospital (Hospital Campo de Verão). Quem teria assim batizado aquele soturno conjunto vitoriano? Imensas paredes de tijolos vermelhos, a lembrarem uma perpétua dor de cabeça, subiam até os beirais mal conservados, interrompidas aqui e ali por janelas gradeadas, que jamais tinham sido limpas, como que para proteger os pacientes do melancólico micro-clima que pairava sobre aquele recanto esquecido da zona sul de Londres. Relvados sem cor lutavam pela sobrevivência nas sombras de freixos altos, porém em minhas visitas a David Hunter eu nunca vira um só dos dois mil pacientes tomando ar.
Qualquer pessoa, vim a descobrir, podia entrar de carro pela guarita sem ser detido, e as intermináveis ruas internas que serpenteavam em torno dos grandes edifícios davam a impressão de que Summerfield estava aberta ao mundo. Na realidade, a guarita, tal como os relvados crestados e as áreas de estacionamento dos visitantes, fazia parte de um engodo. O encrave central do asilo, a cidadela dos insanos, permanecia lacrada com segurança dentro de si mesmo. Das janelas do pavilhão de David, através de uma única vidraça limpa, que substituíra o vidro opaco original, eu avistava os pátios internos, ligados aos pavilhões de segurança máxima. Naquelas lúgubres covas de pedra, de muros encimados por pontas de aço, os irremediavelmente loucos eram soltos vez por outra, e ali arregalavam os olhos, com seu jeito obsedado, para o mistério do ar livre. Ninguém decerto saberia dizer por que cada um dos pátios de exercícios tinham forma diferente: alguns eram triangulares, outros formavam retângulos ou paralelogramas, com pequenos recessos que não cumpriam nenhuma finalidade concebível, como se, juntos, formassem um quebra-cabeça de uma mente torturada, a ser completado antes que um paciente recebesse alta.
Dois veículos ocupavam cantos opostos da área de estacionamento, violando a regra normal segundo a qual dois motoristas que chegam a um estacionamento vazio colocam seus carros lado a lado. A maioria dos pacientes, conforme observei, só eram visitados pelos mais pobres dentre seus amigos e parentes. Obrigados a uma longa caminhada desde a guarita, chegavam cansados demais e tudo que faziam era sentar-se e ouvir. Uma tabuleta apontava para os pavilhões destinados aos pacientes de permanência breve - “Narciso”, “Alecrim” e “Jacinto”. Carregando um tabuleiro de xadrez e uma sacola cheia de frutas, revistas de aviação e jornais, parti rumo à recepção. Como de hábito, por mais que tentasse reprimir a sensação, achei que eu estava chegando, de armas e bagagens, para começar minha própria temporada em Summerfield. Aqueles prédios impassíveis possuíam uma autoridade moral muito mais intimidante do que os fatigados psiquiatras que trabalhavam em seus pavilhões.
Enquanto o superintendente checava meu nome na lista de visitantes, sacudi o tabuleiro, pensando em que pouco depois ele estaria mais leve, sem uma peça. Os maltratados tabuleiros de xadrez em Summerfield tinham perdido metade de suas peças. Com seu jeito indiferente, David explicou que os pacientes sem recursos, muitas vezes abandonados pela família, nada possuíam e tratavam uma peça roubada como se fosse um precioso boneco. Em geral, quando eu me sentava no parlatório com David, um dos velhos a quem ele tratava bem ficava olhando para seu peão particular, colocado sobre um tabuleiro aberto. Ex-contador do Comissariado da Igreja, ele tentara esganar a esposa inválida. Depois de uma hora de muito meditar, ele finalmente se aventurava a um lance cauteloso.
Fechando o tabuleiro ao fim de minha visita, David sempre apanhava uma das peças, em geral o bispo preto, que para ele representava a mim. Fazia-o em parte para me irritar, e em parte para ter certeza de que eu não jogaria com mais ninguém. Enquanto eu procurava David, ouvi sua voz do lado de fora do pavilhão feminino. Amavelmente, ele conduzia uma das anciãs na direção do banheiro. Saudou-me com efusão, fechando a porta do banheiro.
- Espero que ela saiba como proceder - comentou. - Ela passa a maior parte do tempo parada lá dentro, tentando lembrar-se da filha. Chama o banheiro de caixa de memória.
Gentil e bem-humorado como sempre, relanceou os olhos pelo par-latório, em busca de alguma novidade para me contar. Vestidos com roupões e sentados nas poltronas de couro, pacientes conversavam com seus parentes mudos. No sofá a nosso lado estava uma moça, com o queixo apoiado nos joelhos, perdida em seu sono profundo de largactil. Os olhos abertos se inclinavam na direção das pálpebras superiores, como se ela tentasse ver alguma coisa dentro do cérebro. No guichê da farmácia, outros pacientes faziam fila para receber suas doses de tranqüilizantes.
- Daqui a pouco vão trazer o chá. - David folheou as revistas de aviação e segurou meu braço, satisfeito por ver-me. Sua internação nos aproximara novamente. - É muita gentileza sua me visitar... Como vão as crianças?
- Estão ótimas, passando nos exames. Henry construiu um avião para você... O Wright Flyer. Alice e Lucy queriam vir comigo.
- Não é muito conveniente.-David cravou as unhas numa laranja e dirigiu-me um sorriso compreensivo. - Elas poderão visitar você, Jim, quando chegar sua vez.
Não respondi e fiquei vendo outra velha, que vestia apenas uma camisola desbotada, carregar um vaso de narcisos para a janela. Ela expôs as flores à luz, apresentando-as ao sol.
- É repousante aqui-comentei.-O sol, essas mulheres, dormindo. É como se você estivesse num hotel na costa sul.
- Um hotel muito especial, meu caro.
- Eu sei... Sempre fico admirado por deixarem os homens e as mulheres juntos por aí.
- Ninguém engravidou ainda. - David olhou para a moça adormecida no sofá a seu lado, com a bainha da camisola na altura dos tornozelos grossos. Quando ele arrumou o tabuleiro, notei que o rei preto não tinha aparecido, uma pequena penalidade a que eu fora submetido. -Além disso, o corpo médico tem absoluta confiança na gente. Para eles, nós somos os normais. Eles conhecem nossos nomes e nossos rostos, além do jeito como fazemos cada coisa. São vocês que parecem realmente abilolados.
- É provável que sejamos.
David debruçou-se sobre o tabuleiro, olhando para mim através das peças. Estava à espera de que eu atingisse meu verdadeiro eu. Encarava minhas visitas a Summerfield como um processo educativo; aos poucos eu haveria de assumir minha responsabilidade pelos acontecimentos que o tinham levado àquela terrível instituição. Ao término de minhas visitas, quando ele me acompanhava até a escada, era evidente que esperava que eu resolvesse ficar. Eu me mudaria para uma cama vaga no pavilhão Jacinto e nossas partidas de xadrez prosseguiriam até que todas as peças tivessem sido roubadas do tabuleiro.
- Já viu Sally? - perguntou ele, com naturalidade. - Acho que ela gostaria de ter notícias suas.
- Falamos pelo telefone... Ela está passando uns tempos na Escócia com uma milionária, amiga do pai dela, experimentando esse novo tratamento com metadona. Parecia estar muito mais calma.
- Ela devia voltar para os Estados Unidos. Posso imaginá-la passeando por Haight-Ashbury... - Suas mãos tremiam sobre o tabuleiro, enquanto ele fixava os olhos em algum sonho maluco do passado. Estendi a mão para reconfortá-lo, tocando-lhe o pulso, mas ele se afastou, e percebi que havia posto o rei preto em seu lugar.
- David, tudo isso agora é passado... os soldados americanos saíram do Vietnam e Nixon foi à China.
- Eu sei. Graças a Deus, eu estou aqui, pois tudo está tão sério. Você vai ter saudades do Vietnam.
- Eu? Por quê?
- Não se lembra mais daqueles noticiários, toda noite? Antigamente, eu ficava imaginando por que você nunca quis voltar a Xangai comigo. Mas você não precisava... Eles começaram a guerra do Vietnam para você.
- Eu não estava pronto para voltar. - Olhando para o idoso contador, vi que ele refletia a respeito de seu peão solitário. - Teria sido muito parecido com voltar à cena de um crime.
- Sei o que quer dizer, Jim. Eu procurei aquela estaçãozinha de que você falava.
- Na Unha Hangchow-Xangai? - Tentei não parecer cético. - Por que nunca me disse?
- Bem... Miriam tinha morrido. Você já estava com problemas de sobra na cabeça. De qualquer maneira, o bosta do motorista de táxi não conseguiu achá-la. Aqueles guias de turismo estão fazendo o possível para transformar Xangai num enigma.
- É provável que ela não exista mais. Eu não pensaria mais nisso. Vamos jogar uma partida. Pretas ou brancas?
- Não, ela existe ainda. - David não deu atenção a minhas mãos erguidas. - Está marcada no mapa da Companhia de Trânsito da Grande Xangai. E dentro de sua cabeça.
- Não está mais.
- Não? E sua exposição de carros batidos...? Ninguém percebeu, mas o que você estava realmente mostrando ali era a estação.
- Com algumas diferenças.
- Sem diferença nenhuma. Jim, eu entendo...
Não era a primeira vez que ele vinculava seu mais recente acidente à minha exposição, deixando implícito que eu atuara como catalisador para seu modo maluco de dirigir. Mas, se uma coisa podia ser dita da exposição, é que ela fora inspirada por David. Lembrei-me dele a zigue-zaguear pelas ruas de Londres, dirigindo da mesma maneira perigosa que começara a ensaiar na estrada longa e reta que ia de Moose Jaw à base aérea. Nas disputas de destruição realizadas nos estádios abandonados da zona leste de Londres, ele e Sally haviam dedicado suas energias à morte.
As ruas de mão única os excitavam a praticar um tipo desesperado de roleta-russa. Certa vez, já tarde da noite, dois anos depois da exposição, David entrara na contramão pelo elevado Hammersmith, piscando os faróis para obrigar os carros que vinham na direção contrária a chegarem para o canto. Confundidos pela sirene do carro da polícia na pista paralela, uma violoncelista de meia-idade e seu marido não tinham conseguido parar a tempo. A mulher fora morta sobre o volante, e só o comportamento insano de David depois de sua prisão e o fato de ter servido como piloto da RAF no Quênia o livraram de uma acusação de homicídio.
De acordo com dispositivos da Lei de Saúde Mental, ele fora mandado para a unidade de custódia especial em Rampton, e depois para Summerfield, onde ficaria em observação. Seis meses depois, o largactil o fazia estremecer naquele salão ensolarado, cheio de mulheres que pareciam em transe ou falavam sozinhas, e a lembrança da morte da violoncelista ainda forçava a porta de sua mente. Eu me preocupava com ele e com o menino que ele tinha sido - aquela criança que, com a idade que Henry tinha agora, saíra do campo japonês para o mundo do pós-guerra. David entendera as minhas necessidades, mas não conseguira interpretar direito as suas. Havia tentado, no começo com hesitação, recriar a crueldade que conhecera durante a guerra na China, sem compreender que o mundo do pós-guerra estava mais que ansioso em fazer isso por ele. O psicopata era um santo.
Na primeira visita que lhe fiz em Summerfield, ele me declarara, fixando as regras de nosso relacionamento:
- Lembre-se de uma coisa, Jim... Tudo o que eu fiz no viaduto foi o que você fez em sua exposição...
As vítimas da década de 60 estavam agora voltando para casa, chegavam aos hospitais de veteranos, a instituições mentais e clínicas particulares. Numa sala de visitas a cavaleiro de um gélido lago escocês, Sally Mumford estava contando os dias à base de metadona. Quando eu lhe telefonava, ela parecia sem expressão, mas serena, ao contrário da mulher confusa e hiperirritada que chegara a Shepperton dois meses antes, precisando de minha ajuda mas se recusando a falar comigo. Felizmente as crianças estavam fora, passando algum tempo com a tia. Tentei dormir no sofá, enquanto Sally passou a noite chorando e andando pelos quartos vazios, revirando os armários à procura de brinquedos velhos, que meteu na bolsa.
No dia seguinte ela deixou que eu a levasse a nosso médico de família, que a enviou a um médico americano em Londres. Sally foi internada então numa clínica de repouso à margem do Tâmisa, em Marlow, uma daquelas prisões privadas em que os ricos, com a conivência da medicina, confinam os parentes idosos ou problemáticos. Quando a visitei ali ela estava calma e sedada, mas como uma sonâmbula, sorrindo ao relembrar nosso primeiro encontro na ilha perto de Rosas, dez anos antes. Parecia ter voltado a ser criança, a moça simpática e generosa que acorrera em socorro de meus filhos quando eles mais tinham necessitado dela. Só quando fiz menção a Dick Sutherland ela fechou o rosto e desviou o olhar.
Somente Dick conseguira sair triunfante dos anos 60. Como eu previra, finalmente a ciência e a pornografia haviam tido seu tão esperado encontro, sob a lente da câmara em seu laboratório. Sua bem-sucedida série de tevê sobre os paranormais - percepção extra-sensorial, astrologia e telecinese - fora vendida para uma rede americana e atraíra para ele a atenção de um progressista magnata nova-iorquino do ramo editorial, que pouco antes fundara um instituto de pesquisas sexuais. De seu conselho diretor faziam parte muitos gurus da contracultura - evangelistas do LSD, neurologistas novidadeiros, filósofos ten e divulgadores do marxismo. Com muita fanfarra, o magnata anunciou que o instituto daria prosseguimento ao trabalho pioneiro de Masters e Johnson, Kinsey e Havelock Ellis.
A princípio, os pesquisadores devotaram-se a filmagens científicas da cópula heterossexual, utilizando a mais recente tecnologia de fibras óticas e câmaras de tevê miniaturizadas, capazes de serem inseridas nos orifícios do corpo humano, tudo isso em perseguição à baleia branca da moderna sexologia, o orgasmo feminino. Em breve, porém, assim que fotos extraídas desses filmes exploratórios foram publicadas nas revistas do grupo, cuja circulação cresceu fantasticamente, a pesquisa se ampliou de modo a incluir formas menos convencionais de atividade sexual. O instituto foi transferido discretamente para Londres, evitando-se com isso a vigilância do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e qualquer possível ameaça aos cargos letivos de seus diretores.
Dick tornou-se diretor científico do instituto em sua nova sede, um prédio que funcionara como hotel e que dava para o canal de Regent's Park. Ali, sob o olhar neutro da câmara, um grupo de voluntários explorara todas as possibilidades legais do lesbianismo, do homossexualismo e da heterossexualidade. As latas de filmes, ainda por revelar, eram despachadas de avião para as redações das revistas em Nova York, e algumas fotos disputaram espaço com os encartes centrais, acompanhadas de comentários científicos de Dick.
Quando, com tato, dei a entender a Dick que ele estava produzindo uma coisa indistinguível da pornografia, ele prontamente concordou.
- Mas, só uma coisa... Nosso objetivo é analisar, e não excitar. Pense nessa vasta atividade humana, comum a todo o reino biológico, e você há de concluir que é surpreendente o pouco que se sabe sobre ela. O que realmente acontece quando uma mulher pratica com você o sexo oral? Você sabe, Jim?
- Dick, você me leva a duvidar...
- Bem, o que mais tem a dizer?
- Mas por que preciso saber?
- Porque o sexo é a última grande fronteira. - Dick fez um gesto na direção do horizonte de Regent's Park como se fosse Cortez a se dar conta da vastidão do Pacífico.-Uma coisa podemos afirmar com certeza em relação ao futuro do sexo: haverá muito mais. Já podemos constatar que vão surgir novas formas de estrutura social, para corresponder a imaginação sexual. Talvez aquilo que você e todo mundo consideram uma mente pornográfica nos permita transcender a nós mesmos e, em certo sentido, os limites do próprio sexo.
- Sua nova série deverá ser fascinante, Dick.
- Já ouviu falar dela? Ótimo.
Eu não escutara uma só palavra a respeito, mas o cumprimentei sem ressentimento. Lembrando-me de nossa viagem ao Rio, entendi que a sessão com Carmem e Fortunata tinha sido uma corajosa tentativa, por parte dele, de descer da tela de televisão para um perdido mundo de emoção e desejo. Ele abandonara a imagem de cientista marginal - em parte astro do rock, em parte Robert Oppenheimer - que o havia sustentado desde seus tempos de Cambridge. Dick deixou de lado os blusões de couro e os medalhões de ouro, adotando ternos de tweed e gravatas de lã. Ele se mostrava agora à vontade comigo, mais feliz e mais seguro de si, empenhado enfim na pesquisa original que sempre lhe fugira, e sem perceber que ele próprio era a vítima de uma falsa experiência.
Sally, entretanto, saíra ferida daquela década. Juntamente com os outros voluntários que trabalhavam no instituto, ela se deixara ludibriar pelo fervor de Dick. Contou-me que ficara assombrada com os filmes, sem cortes, exibidos para os voluntários na sala de projeção do instituto, com o interior catedralesco de sua própria vagina, na qual as secreções se acumulavam em suas paredes cavernosas como jóias a gotejar numa gruta. Deitava-se com seu parceiro de laboratório e uma câmara de controle remoto registrava os movimentos involuntários de seus músculos faciais, a vermelhidão de seus seios e da barriga, os tremores epidérmicos na parte posterior de suas coxas.
A visão dessas porções soltas de seu próprio corpo levara a um crescente entorpecimento, uma perda de sensibilidade da pele à dor e ao sentimento, como se seu sistema nervoso estivesse ligado não aos conhecidos terminais nervosos de suas mãos e lábios, mas à tela da sala de projeção de Dick. Ela virava as páginas das revistas masculinas na sala de espera antes das sessões de laboratório e descobria partes destacadas de sua anatomia na revista, a escarpa úmida de seu púbis convertida numa remota cordilheira vista da janela de um avião.
Sally estava sendo progressivamente desmembrada, até chegar ao ponto em que esperou encontrar as peles dos seios e das coxas esticadas num cartaz de publicidade ou forrando as almofadas de uma boate da moda. No dia em que, como a maioria dos voluntários de Dick, largou o programa, nunca mais conseguiu reintegrar-se plenamente e vagava pelas ruas, em seu estupor de heroína, à procura das partes perdidas do rosto e dos lábios.
Pouco depois, o Ministério do Interior se interessou pelo instituto, e seu trabalho foi suspenso. Do outro lado do Atlântico, o magnata das revistas anunciou que a revolução sexual terminara e que ele doara os quilômetros de filmes à Fundação Kinsey. As indústrias do lazer representavam a onda do futuro, e os investimentos seriam desviados para novos centros de turismo no Havaí e no Caribe. Com muitas manifestações de pesar, o sexo foi deixado por sua própria conta.
O revés foi um golpe para Dick. Como ele admitiu num momento de surpreendente franqueza, ingenuamente esperara que o trabalho do instituto seria aceito seriamente. Dick sabia que sua reputação na comunidade científica tinha ficado abalada e que as portas da maioria dos laboratórios estariam fechadas para ele. Tentando ajudá-lo, apresentei-o a um editor interessado, e por sugestão minha Dick escreveu rapidamente o texto de um guia pop da psicologia humana. Mais tarde, lendo aquele bestseller multicolorido, que parecia ter saído do fundo de uma embalagem de flocos de milho, impressionaram-me, como sempre, a astúcia, a inteligência e o bom humor de Dick. Como suas vendas ultrapassaram em muito a de meus próprios livros, Dick podia continuar a me tratar com condescendência. Eu continuava a ser um aluno gauche, que fazia o café em seu laboratório e tinha permissão para namorar sua secretária.
Mas, teria o rato da caixa de Skinner controlado sempre o experimen-tador? Quando pensava em David Hunter, Dick e Sally, às vezes ficava pensando: que papel eu teria desempenhado em traçar o rumo de suas vidas, dirigindo-os para metas que eu havia fixado muitos anos antes? Conscientemente, eu nunca os manipulara, mas eles haviam aceitado seus papéis como atores recrutados para representar numa peça cujo texto nunca tinham visto.
Peggy Gardner não tinha dúvidas quanto à minha responsabilidade. Visitei-a em sua casinha em Chelsea depois da sessão do tribunal, que determinou o internamente de David, na esperança de que ela pudesse mais tarde depor a favor dele. Peggy sentou-se longe de mim, numa cadeira de encosto reto, olhando-me como se fosse eu quem estivesse ao volante do Jaguar e ela fosse uma psiquiatra da polícia, chamada para fazer uma avaliação.
- Coitado de David. O último de sua trupe. Primeiro, Sally, depois Dick...
- Dick? Não tive nada a ver com ele.-Bati o copo de uísque com tanta força que quebrei o esmalte de sua mesa de ébano. - Peggy...?
- Aquele instituto espalhafatoso, aqueles programas de tevê.
- No fundo ele é um ator, que por acaso descambou para a psicologia. Dick é... um xamã da era da tevê.
- Você passou anos o estimulando a comprar aqueles carros americanos, dizendo a ele... Que bobagem era mesmo?... Que ele faria a primeira descoberta científica na televisão. Como ele poderia resistir?
- Ele nunca quis resistir. Não se lembra dele em Cambridge?
- Eu fugia dele. Era sempre muito atencioso e lisonjeador.
- Estava apenas esperando que a televisão aparecesse.
- Ele estava esperando por você. - Peggy caminhou até a lareira e me olhou pelo espelho, como se a imagem invertida pudesse dar uma pista para meus sonhos sinistros. - Às vezes eu acho que ele preparou aquela experiência falsa só para conhecer você.
- Ele nem sabia de minha existência.
- Conhecer alguém como você. Alguém obcecado com a Terceira Guerra Mundial, com a cabeça cheia de bombardeiros americanos e de Lunghua...
- Nunca falei sobre essas coisas.
- Não precisava! Com que ânsia você procurava a violência! Ela dava sentido a tudo, mas você precisava que a televisão enchesse o ar com ela, que mostrasse sem cessar muito horror e sofrimento. Aquilo realmente excitava Dick. Ele lhe deu Miriam como a única maneira de você ficar perto dele.
- Isso não será um pouco de maldade demais? Ele teria chegado à televisão mesmo que nunca me conhecesse.
- A guerra do Vietnam, o assassinato de Kennedy, o Congo, aqueles medonhos ratissages... Parece que foram inventados para você.
- Peggy, ouvindo você alguém diria que eu sou um criminoso de guerra.
- Miriam dizia que era. E você adora seus filhos. - Peggy apertou as mãos no espelho. - Antes de embarcarmos no Arrawa você me levou ao cinema em Xangai, era um filme sobre um porta-aviões americano...
- The Fighting Lady... uma coleção de cinejornais.
- Pensei que você ia dar em cima de mim no escuro, mas não precisava me preocupar. Sua cabeça estava lá, parecia moldada naquela tela. Fiquei tão assombrada que não consegui tirar os olhos de você.
- Era o único filme que estava passando em Xangai. De qualquer maneira, aviões me fascinavam.
- Você me disse que tinha visto o filme dez vezes!
- Os americanos trouxeram o filme quando chegaram, e nos deram entradas grátis. Eu não tinha outra coisa para fazer.
- Nada? Em toda Xangai? Você estivera preso durante três anos e tudo o que queria fazer era ficar no escuro vendo aqueles pilotos suicidas atirar seus aviões em navios americanos? - Peggy virou-se do espelho, pronta agora a me encarar. - Diga-me uma coisa. Sabia que David tem uma cópia desse filme?
- Acho que ele tem, sim.
- Você sabe que ele tem. Miriam me disse que vocês costumavam vê-lo na garagem dele, em Cambridge.
- Fizemos isso uma ou duas vezes. Dick tinha breve e eu voara no Canadá. Além disso, trata-se de um filme notável... Aqueles pilotos americanos eram homens corajosos. Os japoneses também.
- Claro que eram. Não mais do que os russos ou os ingleses. O que os americanos tinham era mais estilo e fascínio.
- Como tudo que é americano. E daí?
- E é exatamente disso que você sempre precisou... de violência envolvida em fascínio. Aquela tarde terrível na linha de trem perto de Siccawei... Àquela altura você já tinha visto dezenas de atrocidades.
- Todos nós tínhamos. Assim era Xangai.
- Mas daquela vez você esteve bem perto. E parte daquilo aconteceu a você. Aqueles acidentes de carros, os filmes pornográficos, a morte de Kennedy... essas coisas são a sua maneira de transformar tudo em filme, alguma coisa violenta e fascinante. Você quer americanizar a morte.
- Peggy... - Ela havia falado com uma energia surpreendente. Pacientemente, acompanhei-a à cozinha quando ela levou a bandeja das bebidas. - Já que estamos falando nisso, o instituto de Dick acabou produzindo mesmo uma pesquisa original. Eu nunca vejo filmes pornográficos e só tive um acidente de carro na vida. Você passa por um a cada ano.
- Eu sei. Você mora em Shepperton e criou três crianças felizes e maravilhosas. Como, não sei.
Encostei-me na geladeira, observando a pequena cozinha, com seus elegantes jarros de especiarias e caras panelas francesas, tão diferente da minha, onde praticamente não havia duas peças de louça que combinassem e quase todos os copos tinham sido ganhos em postos de gasolina. A casa de Peggy era um boudoir projetado para seduzir e excitar os homens. Ela passara por muitos casos, mas não deixara que eles a atingissem. Não havia fotografias de férias para recordar-lhe os homens que a tinham levado a Florença ou San Francisco ou que com ela tinha dividido casas, no correr dos anos, em Vance e no Lot. Sobre a mesa imaculada em seu consultório não havia um só presente masculino.
Peggy nunca se casara, como que temerosa de ter uma filha que um dia chegasse aos doze anos e lhe lembrasse os anos em que ela estivera separada dos pais. Curiosamente, a única pessoa que lhe dera força nunca pudera deitar-se com ela e era a única pessoa que ela continuava a reprovar e censurar, exatamente como na época em que eu pregava peças no alojamento das crianças.
- E você, Peggy?
- Eu? - Ela meteu os copos na lavadora. - Está tentando me recrutar para sua companhia de repertório?
- Eu estava pensando na pediatra dedicada que nunca se atreveu a ter um filho.
- Pensei nisso tarde demais. - Peggy enxugou as mãos e a descansou, indulgente, em meus ombros. - Além disso, eu tinha você. Acho que cuidei bem de você.
- Ainda cuida... Foi por isso que se tornou pediatra?
- Meu Deus, não diga isso! - Sem pensar, ela me deu um tapa na boca, mas depois caiu em si e fez uma careta ao ver meus lábios machucados. - Ah, merda... Seus lábios estão sangrando. Jim, eu não queria criar problemas com você e Miriam...
Eu a beijei, pela primeira vez desde que ficávamos sentados sozinhos no Grande Teatro da rua Nanquim. Senti seus lábios lambendo o sangue em minha boca. O cheiro de seu corpo mudara, e seus cabelos, já um pouco grisalhos, lembraram-me os de sua mãe ao descer da barcaça americana de desembarque depois da viagem de Tsingtao. Abracei-a, procurando os ossos finos da menina que eu conhecera em Lunghua. Os braços macios em meu peito eram os de outra mulher.
Toquei suas omoplatas e as costelas firmes da menina faminta de doze anos que me haviam levantado com força da cama de doente. Passei as mãos em torno de sua cintura, tocando a protuberância larga e familiar de sua pelvis. Beijando-a de novo, corri os dedos pelo queixo tímido, que se alongara à medida que a guerra prosseguia, sempre virado de lado enquanto ela refletia sobre meu mais recente plano para achar comida. Peggy sorriu para mim no espelho da cozinha, tentando desculpar-se por ter machucado minha boca. Suavemente, levantei seu lábio superior com o indicador, tomado por uma onda de lembranças e de amor por seus dentes, já gastos mas ainda regulares, agora tingidos por meu sangue.
- Parou de sangrar. - Peggy soltou-se de minhas mãos. - Jim, você não está descrevendo o esqueleto a uma classe de calouros... Vamos para cima.
Ela fechou as cortinas, dobrou a colcha e começou a se despir sem pressa, pendurando as roupas com cuidado na cadeira ao lado do guarda-roupa. Esperei que ela se mostrasse acanhada, mas Peggy olhava com orgulho para o corpo bem-feito no espelho. Ainda sorrindo para si mesma, pôs-se diante de mim enquanto eu lutava com as abotoaduras e massageou a área sob os seios, tirando as marcas do sutiã. Contraiu o estômago, escondendo o abdome roliço e fazendo-me recordar um corpo muito diferente, que aqueles ossos tinham sustentado no passado.
Sentado na cama diante dela, coloquei as mãos em seus quadris e comecei a beijar as pequenas sardas em seu abdome e a nacarada cicatriz em espiral que descrevia uma curva em torno das costas e terminava debaixo do apêndice. A cicatriz assinalava a operação de rim a que ela fora submetida dez anos antes, a ressecção Anderson-Hinds da pélvis renal. Depois que fui apanhá-la no Hospital Middlesex, ela caminhara a meu lado, fraca, pela rua Charing Cross, e na seção de medicina da Foyles eu comprara para ela a monografia do cirurgião, o livro que descrevia sua cirurgia. Tateei a superfície erodida da cicatriz, tentando pôr-me em dia com os mil pequenos choques e equimoses que seu corpo tinha sofrido. Ainda me lembrava de Peggy sobraçando o livro ao sairmos da livraria, sorrindo para mim apesar do mau gênio.
Apertei-a com força, sugando de volta o sangue de minha boca, perturbado como se estivesse abraçando uma irmã. Estávamos deitados e ela me acalmou com uma das mãos, começando a afagar meu peito, compassando os movimentos de meu diafragma. Décadas de desejo e dependência estuaram em mim e lançaram-se para seu seio no momento em que eu o levei à boca. Coloquei o joelho dela junto de meu quadril e me meti entre suas pernas, desejando que um dia tivéssemos feito um filho juntos.
Peggy limpou o sangue do bico do seio e levou-o aos lábios.
- Sangue tranqüilo... Isso é bom, Jim. Agora eu me lembro... Movimentei-me dentro dela, naquela profunda união interior, feliz por não conseguir mais sentir-lhe os ossos.
- Peggy... Eu queria fazer isso há trinta anos.
- Coitadinho. Naquele tempo você não conseguiria. - Ela me beijou a testa, limpando os lábios e deixando uma mancha úmida de sangue, que eu senti na pele. - Esta é a última vez... Vai ter que esperar mais trinta anos.
- Vou esperar...
Descansei dentro de Peggy quando ela começou a buscar o prazer sozinha. Seus olhos acompanhavam o movimento arfante dos seios. Peggy manipulou os bicos para se excitar e depois conduziu meus dedos até o púbis, entregando-se a um devaneio de luxúria tão privado quanto um sonho. Sua mente estava longe, muito além daquela casinha e dos telhados de King's Road. Ela olhava para as costelas fortes, encostadas em meu peito. Sua brusca pergunta na sala - “Está tentando me recrutar para sua companhia de repertório?” - tinha sido a corte sinuosa que ela me fizera, e o sangue em minha boca me possibilitara fazer de novo o papel de criança doente. Por alguns momentos, estávamos deitados em minha cama no alojamento das crianças. A seu modo indireto, ela estava realizando seu próprio retorno à guerra, a seu primeiro desejo por mim. Agora que seus pais haviam morrido, ela e eu tínhamos ocupado o lugar deles e estávamos livres para voltar a Xangai. Mais uma vez éramos as crianças de doze anos que tinham contraído um pequeno casamento de conveniência entre os trapos e a palha malárica.
Depois de nos vestirmos ela endireitou minha gravata e meu paletó, tirando dele um pedacinho de caspa, como faria uma esposa. Despediu-se na porta e me deu um beijo decidido, mandando-me para o mundo.
- Converse com o advogado de David - lembrei-lhe. - Ele vai telefonar para você.
- Vou ver o que posso fazer... Posso dizer ao juiz que ele foi maltratado pelos japoneses.
Peggy me deu um último abraço, diante dos transeuntes. Uma janela para nossa infância se abrira e se fechara.
- Hora do chá... graças a Deus. - David sentou-se, esquecido de nossa partida de xadrez.
Empurrado por uma alta enfermeira jamaicana, o carrinho com o bule de chá avançou para a mesa envernizada, na qual estavam arrumadas, em fileiras, cerca de quarenta xícaras e pires. Cinco minutos antes, os pacientes tinham começado a se movimentar de maneira quase imperceptível. Cintos de camisolas foram presos, figuras espectrais surgiram dos banheiros e dormitórios. Outros pacientes se levantaram sem uma palavra e se afastaram dos parentes, fazendo uma pausa para sacudir os ombros dos homens e mulheres que, sedados, dormiam nas cadeiras. Nenhum se atreveu a aproximar-se da mesa, esperando que a enfermeira, com muitos sacolejos solícitos do bule de chá, arrumasse os pratos de biscoitos.
- É muita gentileza sua vir me visitar, Jim. - David segurou meu braço, mas o rei preto havia sumido temporariamente do tabuleiro.-Para ser franco, não recebo muitas visitas.
- David, eu acho bom vir aqui. Peggy e eu estamos fazendo o que podemos. Estamos tentando fazer com que você passe a ser um paciente ambulatorial.
- A velha turma de Xangai... Não há como fugir dela. É interessante aqui... Achei que isto lhe daria algumas idéias.
- Já deu...
A nosso lado, a moça de tornozelos grossos e olhos revirados continuava a dormir em seu profundo torpor medicamentoso, sem dar pelos vultos fantasmagóricos que passavam por ela. Imobilizavam-se sempre que a enfermeira olhava imperiosamente por cima do ombro, como se todas as provações por que passavam os obrigassem a mais uma vez brincar de ser crianças. Ainda sem perceber a chegada do chá, a anciã de camisola dispunha uma fileira de narcisos pela faixa de carpete que separava o recesso do janelão do resto da sala. Observando-a, tentei adivinhar o significado daquela fronteira floral, talvez uma porta pela qual seus filhos perdidos poderiam um dia entrar.
- Doreen! Pare de futucar essas flores! - A enfermeira bateu com força a tampa do bule, olhando para a fileira de flores gotejantes tiradas de seus vasos. - Venha me ajudar com o chá.
Relutando a deixar seu trabalho, Doreen começou a alinhar as xícaras ao lado do bule. David recostou-se em sua poltrona, espreguiçando-se na direção do carrinho, como se prestes a meter a mão por baixo da saia da autoritária jamaicana. Estava olhando para a travessa de biscoitos, mexendo a mão para a frente e para trás como a cabeça de uma serpente. Todos os olhos na sala estavam postos nele, e até a moça sonolenta endireitara os olhos para observá-lo.
- Doreen, você está se atrasando. - A enfermeira deu um passo adiante, e suas pernas fortes puseram fim ao sonho de David. Doreen segurava uma xícara cheia de chá, com os olhos fixos no líquido transbordante. Olhava para a superfície trêmula, evidentemente impressionada com o contraste insuportável entre o fluido de infinita plasticidade e a dureza polida da mesa. Segurou a xícara com o braço estendido, incapaz de suportar o contraste entre esses estados opostos da geometria. Por fim, pondo à prova uma hipótese irresistível, inverteu a xícara num gesto desafiador.
- Doreen...! - O chá escorria por todos os lados, empapando os biscoitos e atravessando a mesa para cair sobre o carpete numa torrente fumegante. Indignada, a enfermeira interrompeu a catadupa, molhando a saia e o avental engomado. - Doreen, por que fez isso?
- Jesus me mandou-falou Doreen com naturalidade. Olhou, feliz, para a confusão diante de si, satisfeita por ter sido capaz de resolver aquelas naturezas inconciliáveis. Seu instante de discernimento parecera de inspiração divina.
- Vá para seu quarto! - A enfermeira avançou sobre ela. Agarrou o pulso e o cotovelo de Doreen, arrastando-a com violência pelo chão, sacudindo a velha com tanta força que tive medo de que ela quebrasse um braço.
Não houve socos, mas uma dose de castigo físico estava sendo administrada. Doreen caiu no carpete, e eu me levantei para ajudá-la, sem dar atenção à enfermeira encolerizada e aos olhares chocados dos parentes. O corpo de Doreen era leve como o de uma criança. Segurava o braço machucado, soluçando baixinho. Quando a deixei na porta de seu dormitório, ela olhou as filas de camas desertas e lhes disse, queixosa:
- Jesus me disse pra fazer aquilo...
Depois de me despedir de David, desci para a recepção, contente de ver os gramados vazios e a área de estacionamento.
- Vinte e nove, trinta, trinta e uma - contara David ao devolver as peças à caixa. Passou o fecho e acrescentou: - Trinta e duas. - Sorriu para mim, consciente do jogo que estávamos fazendo. Encontrar a chave era o jogo de David, mas ele nunca a encontrara, e a busca o levara a Summerfield, enquanto Doreen achara a sua num momento de fé e imaginação. Pensei naquela mulher simples a se proteger do mundo com seu cordão de flores, solucionando um premente mistério de tempo e espaço com um gesto de coragem.
Dei meu nome ao atendente e saí para a luz. De uma maneira curiosa, senti que estava tendo alta de Summerfield. David e todos os demais pacientes daquele asilo vitoriano tinham tentado resolver juntos o quebra-cabeça de cujo tabuleiro fora roubada uma peça essencial.
Caminhei até meu carro, atravessando o asfalto úmido que nunca secava depois da chuva da noite. Antes de ligar o motor, tomei a decisão de visitar David dentro de quinze dias e de levar narcisos para Doreen. Deixei para trás Summerfield, um labirinto vazio cioso de suas entradas e saídas.
O telefonema de Sally Munford me surpreendeu. Quatro anos depois de voltar para os Estados Unidos para sempre - ela me enviara cartões-postais de Berkeley, na Califórnia, e de um refúgio em algum lugar do Idaho -, estava na Inglaterra de novo, com um jovem marido, uma filhinha e uma casa no interior, em Norfolk. Num tom jovial, contou-me que fazia seis meses que tinha voltado, escondendo-se num lugar que me pareceu suspeitosamente uma comunidade hippie remanescente dos anos 60. Convidara David para visitá-los e, ao saber que sua carteira de motorista fora cassada para sempre, sugeriu que eu fosse também e lhe desse uma carona.
- Temos um cabrito, eu planto feijão e couve-flor e faço nosso próprio pão. Você vai ficar de queixo caído!
Meu coração vacilou entre a depressão e a alegria. A viagem, três semanas depois, começou confusa. David não apareceu como combinado no saguão do Heathrow Penta Hotel, pois seu vôo tardio de Bruxelas se atrasara. Depois de esperar uma hora, saí na direção da Circular Norte, a imaginar se David partilhava de meus receios. Eu estava feliz por rever Sally, que finalmente se tornara mãe e esperava outro filho - pelo menos me ficara a impressão de que ela dissera isso, num vago tom de mãe-terra, como se agora pretendesse ficar permanentemente grávida pelo resto da vida.
Mas a idéia de voltar a um pedaço intacto da década de 60 assustava tanto quanto retomar à ressaca do fim de semana anterior. Oito anos depois do fim dos anos 60, ainda havia à vista muitas vítimas da década, feridos ambulantes que pareciam os veteranos de uma guerra impopular, que não tinham escrúpulos de incomodar a consciência pública. Apegavam-se à vida periférica das universidades provincianas, editavam livros sobre ocultismo ou estilos de vida alternativos ou se sepultavam em escritórios remotos da BBC, sempre dispostos a desperdiçar uma hora de almoço falando de programas sobre um ervanário do século XIX ou um esquecido protetor dos pré-rafaelitas.
O sonho dos anos 60 jazia morto nos olhos deles, e provavelmente também nos meus, juntamente com esperanças de um mundo milenarista de paz e harmonia - esperanças que, curiosamente, tinham sido atiçadas pelas cruéis excitações da era pós-Kennedy e por um milhão de overdoses de drogas. Meus filhos tinham rumado para suas universidades, deixando em minha vida um vácuo que nunca seria preenchido. A casa em Shepperton parecia um armazém abandonado pelos estúdios de cinema, tal como as barras de chocolate e o rolo de papel higiênico, feitos de madeira compensada, do Mundo Mágico. Os velhos brinquedos e aeromodelos que entulhavam os armários eram os elementos de uma série do tipo “família feliz”, que, malgrado a antigüidade e os altos índices de audiência, houvesse sido tirada do ar pela emissora.
A sensação de ter sido suspenso da programação me oprimia enquanto eu vagava, tarde da noite, pelos quartos vazios, olhando as velhas fotos de férias atiradas nos destroços. Limpando a poeira, eu contemplava essas imagens das meninas cortando uma faixa de pano entre garçons gregos e espanhóis, Henry travando uma queda-de-braço com um capitão de pedalinhos e aprendendo a esquiar na água. Eu tinha saudade daquela infância compartilhada, que um dia parecera que seria eterna. Quando meus filhos me faziam breves visitas - acanhados, como se participassem de reencontros encenados -, ficava claro para mim que eu era o último de nós a crescer. Eles aceitavam a vida adulta, enquanto eu ainda estava pensando em nossos dias felizes, assistindo pela tevê aos pousos na Lua e aos concursos de Miss Mundo, anacronismos de uma década desaparecida.
Ao sair de Londres eu mergulhei mais fundo no passado do que a comunidade de Sally perto de Norwich. Poderia ter escolhido um caminho mais rápido, evitando inteiramente Cambridge, onde fazia vinte anos que não ia. Mas a velha cidade universitária, onde eu conhecera Miriam e Dick
Sutherland, bem valia um desvio, ao menos para verificar se meus sentimentos conflitantes em relação ao lugar continuavam os mesmos.
Felizmente, qualquer lembrança perturbadora foi esquecida no ruído do trânsito intenso que enchia os acessos à cidade. Cambridge crescera, espraiando-se num complexo de parques industriais e científicos, circundada por monótonos conjuntos habitacionais e shopping centers. Na sua área central, como a casbá em Tanger, ficava o coração vetusto da universidade, escala para disciplinados grupos de turistas japoneses, que desciam de seus ônibus alemães equipados com tevê. Quando estudava ali, eu rezara para que surgisse um novo Thomas Cromwell, que defendesse a dissolução das universidades, porém o turismo de massa realizara esse objetivo, ocupando as antigas universidades européias, tal como em breve destruiriam Roma, Florença e Veneza.
Estacionei o carro, atravessei o Cam e me juntei a um grupo de japoneses no momento em que rodeavam o King's. Estudantes singravam o rio, refestelados em chalanas, como enfastiados extras de um filme que esperassem atrair a atenção de um produtor. Professores falsamente excêntricos posavam diante da capela com o constrangimento de atores coadjuvantes, à espera de que uma equipe da tevê espanhola arrumasse os refletores. As pedras góticas estavam impregnadas do espírito da Disney Corporation e de seu parque. Escutando um comentário do guia, esperei que em seguida ele anunciasse que toda a capela era uma réplica para turistas, feita de fibra de vidro, e que a estrutura original se encontrava agora entregue aos cuidados mais esclarecidos da Fundação Ford, em um armazém de Long Beach.
O espírito da Cambridge do passado, de Rutherford, Keynes, Ryle e Crick, tinha-se bandeado havia muito para as universidades americanas, que a haviam suplantado, deixando atrás de si uma academia de tevê com os olhos postos em suas tarifas para consultoria de roteiros. Entretanto, ainda subsistia o mundo mais real que eu vislumbrara em meus passeios de motocicleta. Longe das câmaras dos turistas e dos mestres que faziam pose, impunham-se as concretas realidades do poder americano. Além das sebes e das cercas de tela estavam os bombardeiros nucleares nas extremidades de suas pistas, fiadores da ordem civilizada de que a universidade tanto dizia orgulhar-se.
Ouvindo o ronco de motores americanos, saí da estrada perto de Mildenhall, assim que um gigantesco bombardeiro sobrevoava as árvores. Passou por mim um carro, levando um aviador americano de folga e sua família. Usavam roupas civis quando saíam de suas bases, como guardas de uma reserva natural que mantivessem uma vigilância discreta sobre as imprevisíveis criaturas de que cuidavam. Parei numa pista estreita e, através da cerca, olhei o desgastado concreto ao lado dos silos de foguetes nucleares. O cimento sem registro nem loas era mais venerável que todas as louvadas e polidas pedras da universidade. As pistas eram corredores que levavam a um mundo mais cheio de significado, portais de memórias e promessas.
- Jim! Você não mudou nada... Devia ter me avisado!
- Sally...? Puxa, você...
- Eu mudei. E como mudei!
Ela me abraçou com força, os braços avigorados por cabrito preso à corda, criança e marido. Tinha os cabelos curtos e puxados para trás, mostrando um rosto roliço e alegre que poderia ser o de uma sensata irmã mais nova de Sally, casada com um cirurgião de Filadélfia. Sua pele emitia um arco-íris de cheiros que fez minha memória voltar, aos trambolhões, a meus primeiros anos de casamento - loção de bebê, desinfetante, ervas de cozinha, um gerânio recém-plantado, seios e axilas quentes, tudo isso encimado por uma gota do melhor perfume, comprado especialmente para a ocasião.
Larguei meus presentes e examinei-a com afeto, assombrado diante daquela robusta dona de casa anglo-americana. Estava com apenas três meses de gravidez, mas parecia ter dobrado de peso. Tomara-se uma mulher vistosa, de pernas fortes e pele rosada.
Cercado por aquela simpática casa de fazenda, que dava para os lamarões, tive a sensação de ter errado o caminho e caído em outro cenário de filme. Alguns minutos antes, seguindo pela esburacada estrada de terra na direção de um velho celeiro de metal, eu esperara dar com um acampamento de barracas de índios, com uma trupe de ex-executivos e egressos da indústria fonográfica a catar pulgas de seus caftãs enquanto entoavam mantras e fumavam maconha. Mas a casa, com tapetes chineses e sofás macios, mais lembrava um sonho da década de 80. Sobre a mesinha de centro viam-se livros de arte normais e não biografias intelectualizadas. Todo o ambiente, confortável e típico de gente de verdade, assim como os brinquedos amontoados num canto, poderia ter sido usado num anúncio de pão integral na tevê.
- Bem, o que acha? - Sally olhava para mim com a mesma expressão maliciosa de antes.
- Sally, isto é incrível... Estou feliz por você. Realmente, não era o que eu esperava.
- Claro que não é. Mas está reconhecendo?
- De certa forma, sim. Não me diga que apareceu na televisão. É isso?
- Espero que não. Faça um esforço. - Quando desisti, ela exclamou, triunfante: - É igualzinho a Shepperton!
- Onde? Minha velha toca?
- Claro! Não fique com essa cara de bobo. Pensei em você e nos duendes quando fizemos a decoração.
- Sally... Não consigo acreditar. Quer dizer que durante todo o tempo eu fui um perfeito burguês sem saber.
- Claro que sim. Se você quer criar filhos, só há uma maneira de fazer isso.
- É... As crianças decidem esse ponto, realmente. Estou louco para ver a pequena Jackie.
- Ela é um amor, sem ela eu não viveria. Edward já vai trazê-la de volta de uma festinha de crianças.
- E Edward também.
- Você vai ficar impressionado. Ele é muitos anos mais novo que eu, mas é tão maduro! Às vezes acho que ele é meu pai.
- Que bom... - Ela falara do passado sem nenhum ressentimento, como se todas as recordações do apartamento de Bayswater e das pistas de stock-cars da zona leste de Londres tivessem desaparecido para sempre. - Sally, este lugar é maravilhoso.
- Comprei o pacote inteiro: caminhonete, cachorros, casacos de pele de carneiro, festas da igreja. Eu devia ter imitado você há anos e anos. Agora, fale dos duendes.
Ela serviu o chá, feliz por exibir a prataria da mãe. Depois nos sentamos no sofá e pusemos um ao outro a par de nossa vida. Ela conhecera Edward, professor de física da Universidade de East Anglia, quando ele passava um ano em Berkeley. Eu havia imaginado Sally como uma daquelas ex-hippies insociáveis, sentadas no meio-fio de Telegraph Hill e acendendo um cigarro no outro, mas na verdade fora gerente de uma pequena livraria e começara a mudar de vida muito antes de conhecer o marido. Olhando para ela, senti que o passado escoara por algum ralo de sua mente. Ela estava jovem de novo, confiante em si e no mundo, no sol e naquele cômodo alegre e desarrumado. Com trinta e poucos anos, tinha sido capaz de reencontrar a garota de dezoito que ela vira pela última vez no aeroporto de Idlewild em 1962, pegando um avião para a Europa. Era uma outra Sally Munford a que tinha partido ao encontro dos anos 60, tomado um excesso de overdoses e entrado para o grupo dúbio de administradores de arte, psicólogos de tevê e empresários de exibições de desastres automobilísticos. Feliz pela mudança nela operada, ouvi suas descrições das mais recentes gracinhas de Jackie. Ao mesmo tempo, porém, eu pensava em quanto tempo aquilo duraria, se não seria outra fantasia momentânea, um sonho que soçobraria quando atingido pelo primeiro vagalhão forte...
Uma velha perua Volvo entrara pelo caminho, avançando pelos buracos fundos. Um homem de rosto juvenil, cabelos claros e ombros largos de jogador de futebol, desceu do carro. Abriu a porta traseira, soltou uma espécie de cinto de segurança e tirou de lá uma garotinha com um vestido de festa.
- Eles chegaram. Veja só...
Com os olhos brilhantes de orgulho, Sally chamou-me à porta. Levantou Jackie no ombro, esfregou o nariz no dela e a interrogou sobre a festa. Beijou o marido, que me cumprimentou cordialmente, mas com certa distância. Ao acompanharmos Sally e a filha para a sala, ele me disse que David Hunter deveria chegar à estação de Norwich dentro de uma hora.
- Vou apanhá-lo na estação, e nos encontraremos com você em nosso sítio arqueológico... Estamos desenterrando um Spitfire do tempo da guerra. Sally achou que você ficaria interessado.
- E fiquei! Meu filho devia ter vindo comigo.
Sally comentara que Edward fazia parte de um grupo de entusiastas da aviação que estavam escavando restos de velhos aviões que tinham caído no estuário. Havia, sobre a lareira, fotos dos aparelhos-um antigo Heinkel e um Messerschmidt, cobertos de turfa, que estavam sendo tirados de um pântano por um guindaste. Destacava-se entre as fotografias um Hurricane quase intacto. Edward e seu grupo posavam a seu lado, com o curador de um museu aeronáutico ao qual tinham doado um caça da batalha da Inglaterra.
Por ora, entretanto, havia assuntos mais importantes do que aqueles aviões esquecidos. Tirei o presente de Jackie de minha bolsa e entreguei à garotinha séria a caixa embrulhada em papel brilhante e amarrada com uma fita. Pensei com carinho nas centenas de horas que Sally dedicara a meus filhos. Jackie estava ao lado da mãe, levantando rigidamente os braços, de vez em quando, para se lembrar do vestido de tafetá, e me olhando com seu sorriso meigo, mas vazio. Seus joelhos e cotovelos pontudos, as mãos que se dobravam tanto que as palmas tocavam no pulso e o rosto sem expressão me levaram a pensar que a mente anuviada daquela criança excepcional jamais se daria conta do lar afetuoso que Sally criara para ela.
Arrependi-me então do presente complicado que eu tinha comprado, uma réplica de cozinha, com um fogão e lâmpadas que acendiam, muito além da capacidade de apreensão de Jackie. Ela quase pareceu compreender isso, enquanto Edward montava o brinquedo sobre a mesinha e instalava as pilhas. Olhou para o pai com seu sorriso confiante e fixo, como se estivesse atravessando o mundo meio obliquamente em relação a nós. De vez em quando estendia a mão, hesitante. Depois recuou, grave, quando Sally segurou-lhe as mãos, uma filha da natureza que brincaria eternamente sozinha num jardim crepuscular, murado por sombras que ela jamais conseguiria tocar.
Durante nosso animado almoço, Sally sorriu carinhosamente para a filha. Servindo o vinho, Edward recordou o ano que passara em Berkeley, e contou como se tinham conhecido, por acaso, quando o carro de Sally enguiçou na ponte da baía. Tive certeza de que pela cabeça daquele homem decente e responsável nunca passara a idéia de que sua vida poderia ter seguido um rumo diferente se ele não houvesse resolvido ir a San Francisco naquela manhã. Observando-os, senti que aquela casa feliz não era uma fachada. Longe de ser um problema, a filha tinha fortalecido a família, e o sonho de Sally haveria de ser duradouro.
A maré começara a descer pelo estuário, com as águas fugindo por entre os lamarões. Encalhados pela queda do nível da água, barquinhos a vela tinham ficado acima de onde estávamos, em pedestais de silte. Uma lancha cabinada rangia presa as amarras, despertando de seu profundo sono ribeirinho para o ar aberto. Quando partimos no bote a remos, o que restava de água penetrou no canal, carregando consigo o reflexo da casa. Deitei-me confortavelmente entre as almofadas enquanto Sally movia os remos, sem quase se dar ao trabalho de olhar por cima dos ombros ao transpor habilmente o labirinto de passagens. A cerca de duzentos metros da casa, saímos do canal principal do rio e entramos num reino paralelo de ilhotas e correntes tributárias. Edward e Jackie tinham ido de carro à estação ferroviária de Norwich e se encontrariam conosco no local da escavação, aonde poderíamos chegar mais facilmente de bote.
- Onde estamos? - Sally descansou os remos e protegeu os olhos da vasa brilhante.-Eles só cavam na maré baixa. Se você conseguir ficar em pé sem cair na água, tente localizar a torre de uma igreja. Deve estar à esquerda.
- Estou vendo. - Olhei para o outro lado de um mar de ervas. Toda uma força aérea poderia ter desaparecido naquele mundo de regatos esquecidos. - Há uma espécie de cábrea numa chata.
- É da Norfolk Lighterage. Um dos diretores é maníaco por aviões. - Os braços fortes de Sally puseram o bote em movimento. Seus joelhos se mantinham afastados debaixo do ventre crescido. Sua bata era levantada por lufadas de ar, deixando ver as longas pernas morenas. Minúsculos pontos nacarados eram tudo o que restava das velhas marcas de agulhas.
- Que tipo de avião é? Eles têm certeza de que é um Spitfire?
- Edward acha que sim... por causa do motor. Em geral, é tudo o que sobra. Você vai ficar admirado, Jim.
- Poderia ser um Mustang... Esse avião usava um motor inglês. Enquanto passava pelos lameiros e escutava o barulho dos remos na água, fiquei a imaginar por que Sally fazia tanta questão de que David e eu visitássemos o local da escavação. Lembrei-me dos Mustangs que haviam metralhado o aeródromo perto do campo de Lunghua e dos pilotos que, depois de saltarem de pára-quedas, tinham sido caçados pelos soldados japoneses em seus caminhões em ruínas. De certa forma, as margens lamacentas me recordavam o Huang Pu e os aviões derrubados, caídos junto das valas de irrigação.
- Estou exausta. - Sally largou os remos e deixou o bote deslizar na corrente. - Hora de descansar.
- Eu remo para você.
- Não, é arriscado demais. De qualquer maneira, o exercício é bom para mim.
Segurando minha mão, ela saiu de onde estava, deu um passo à frente no bote instável e afundou a meu lado, sobre as almofadas. Limpou o suor que lhe colava os cabelos louros na testa. Deslizávamos na maré que baixava, apartados do mundo pelo mato e pelas encostas de lama sedosa.
- Parece que é Jackie. - Sally apurou os ouvidos ao escutar o grito de uma ave aquática no meio dos caniços. - Não. Está longe demais.
- Ela é linda, Sally... Você tem muita sorte.
Sally encostou a cabeça em meu ombro e segurou minha mão, acompanhando-lhe as linhas com uma unha quebrada, como que para recordar minha vida estranha.
- Ela é ótima. Edward a adora. Está indo muito bem nas aulas especiais e fez um monte de amigos.
- E vai ter companhia em breve. É menino ou menina? Hoje em dia, pode-se escolher.
- Não, obrigada! Não quero saber. Menino ou menina, é ele ou ela quem vai decidir. - Sally apertou minha mão contra sua barriga, e riu quando eu senti a criança dar um chute. - Cuidado com mulheres grávidas, Jim. Você passou muito tempo com elas.
- Adorei cada minuto... Se você um dia se cansar de Edward, me avise.
- Não vou me cansar. - Ela fechou minha mão em torno da linha da vida. - Lembra-se de quando Miriam estava grávida?
- Eu nunca sabia se ela estava ou não. Sabe, ela ficava com o dobro de seu tamanho.
- Que bom. Eu vou ficar com o triplo de meu tamanho. Acha que mudei?
- Inteiramente. David vai ficar boquiaberto.
- Era hora de mudar. Você também, Jim. Aqueles anos foram maravilhosos, mas... Olho para Edward e Jackie e fico tão feliz. Acho que éramos muito saudáveis, mas muito mesmo, para fazer tantas loucuras e nos sairmos bem.
- Nem todos conseguiram isso.
- Como David? Eu sei.
- Você vai ficar surpresa. David está muito melhor... Está dirigindo sua empresa de cargas aéreas em Bruxelas. Ele e a namorada estão querendo adotar uma criança asiática.
- David está morto. - Sally meteu a mão na água. - Percebi isso na voz dele. Morreu há anos.
- Isso não é justo. E não é verdade... Você poderia dizer o mesmo de mim. Peggy Gardner diz isso com freqüência...
- Não. Todo mundo sabia o que você estava procurando. Mas, e David? Mesmo assim, é bom saber que ele está bem. - Sally sorriu, evitando meus olhos. - Tentei ligar para Dick Sutherland... Sempre o vemos num programa infantil. Ele é o médico favorito de Jackie.
- Continua a ser o ídolo de sempre. Quem trabalha na televisão nunca envelhece... ou envelhecem de um jeito diferente. Está com um problema renal qualquer que o deixa desanimado. Quer deixar a televisão e voltar a ser um psicólogo sério.
- Ei, mas você sempre disse que a televisão era coisa séria! Não me diga que Dick começou a pensar por si mesmo. Eu achava que ele vivia inteiramente sob o seu domínio... Agora, fale de você. E os livros?
- Não há o que falar... Esse é o problema. Passei toda a minha vida adulta com crianças. De repente, me vejo com cinqüenta anos e nesse vácuo colossal. As mães sentem a mesma coisa. A natureza não ofereceu um plano alternativo... Ou, como diria Dick, o plano alternativo da natureza é a morte.
- Besteira. Você não vai morrer. Pelo menos, não esta tarde. Além disso, seus filhos ainda são seus filhos, mesmo que não estejam em casa. E isso deve representar um certo alívio... Como você se houve com mocinhas adolescentes é uma coisa que nunca hei de saber.
- Sempre fiz exatamente o que elas diziam que eu fizesse. Na verdade, os pais podem ser melhores mães do que imaginam. São as mães que infernizam a vida das filhas adolescentes. Algumas das amigas de Alice e Lucy passaram pelo diabo.
- Bem, pense na situação... Todos aqueles rapazes apertando a campainha, meninas tomando pílulas, a pobre da mãe descobre que virou praticamente uma dona de bordel. Não é de admirar que Peggy não aprovasse sua conduta. Além disso, ela queria manter você eternamente naquele alojamento medonho... Mas Miriam ficaria orgulhosa de Henry e das meninas. Você ainda pensa nela?
Desenhei meu nome na superfície da água.
- De vez em quando... O ruim é que comecei a me esquecer de como ela era. Às vezes tento me lembrar dela e é como assistir ao filme sobre a família de outra pessoa. Sei que não devia dizer isso. Dizem que as lembranças das pessoas que a gente ama duram para sempre, mas muitas vezes elas são as primeiras a desaparecer...
Sally levou minha mão a seu seio. Manteve-a ali por um instante e depois a colocou no colo. As mulheres que eu amara estavam dizendo adeus. Ficamos deitados ao sol, enquanto a água nos arrastava pelos caniços estalantes.
O motor diesel se sacudia nas chapas do convés da chata, lançando a fumaça do escapamento no ar limpo do estuário. Cabos se desenrolavam da roldana e o bloco caía do céu. Sally e eu nos sentamos numa depressão de areia seca entre dois montículos relvados, com a cesta de piquenique aberta à nossa frente. Ainda usando o vestido de festa, Jackie agachou-se entre as pernas da mãe, sorrindo com sua expressão ingênua para a lança do guindaste.
Lá embaixo, no leito da angra drenada, Edward e sua equipe estavam tirando os últimos restos de limo da fuselagem do avião enterrado. Estacas-pranchas de aço tinham sido metidas no leito, formando as paredes de uma câmara de metal. Suas bordas interligadas impediam que a lama caísse nos restos do avião, a dois metros abaixo da superfície. Quando a maré subia, o lugar ficava cheio de água, mas na maré baixa voltava a secar, permitindo à equipe um breve período de duas horas para retomar o paciente trabalho.
Levantei-me e procurei algum sinal de David, que se aborrecera com os lentos preparativos. Exultante por rever Sally depois de tantos anos e achando graça de sua transformação, de hippie dos anos 60 em perfeita dona de casa, ele se divertia em brincar de pique com Jackie entre as dunas. Não prestava atenção ao trabalho de escavação, e era evidente que desaprovava aquele mórbido interesse por velhos destroços de guerra.
- É como aquela sua desgraçada exposição de carros batidos. Jim, você realmente começou uma onda com aquilo...
- Um momento, David. Eles já desencavavam esses aviões durante a guerra.
- Talvez... Daqui a pouco vão alugar o Olympia e exibir os destroços de um 747 para que todo mundo possa pegar o que quiser... Você poderia ajudar a conseguir uma verba do Conselho de Artes.
De cara fechada, ele saiu na direção de uma hospedaria, do outro lado dos lamarões, a uns quatrocentos metros de onde os carros estavam estacionados. Desde que saíra de Summerfield, ele se tornara de um rigor quase puritano em relação a si mesmo e ao mundo, com todo o zelo de um recém-convertido. Eu percebia que ele lamentava toda a sua vida anterior, julgando ser responsável não só por ter passado a infância em Xangai como também pelo fato de eu ter nascido ali. Penitência alguma seria capaz de expiar aquele crime histórico. Uma lógica posta em movimento naquela cidade cruel havia levado inevitavelmente à morte da violoncelista no elevado Hammersmith.
Deixando Sally, caminhei até a beira do buraco e olhei para baixo. Baldes de limo estavam sendo retirados do leito molhado, e Edward estava metido até os joelhos no lodo escuro, pronto para afastar, com jatos de água de uma mangueira, os restos de sujeira sobre o motor e a carlinga do avião. Faltava a maior parte das asas e da cauda, perdidas quando o aparelho se precipitara no estuário, mas eu via o grosso bulbo do nariz, típico dos monomotores da Segunda Guerra Mundial.
No momento em que ele apareceu, todos se calaram. Edward lavou com jatos fortes a carlinga intacta, observado pelo pequeno grupo de operários e pelos dois homens da chata. Mesmo depois de quase quarenta anos era fácil imaginar a força descomunal com que aquela máquina abatida mergulhara no ribeiro. O bloco exposto do motor, uma negra cabeça de metal irreconhecível, era um fóssil de dor. Esperamos que soltasse seu último brado assim que Edward lavou a lama da câmara de válvulas e do cubo da hélice. Seu rosto juvenil revelava uma seriedade que devia ter varrido tudo quanto havia no coração de Sally quando ele parou atrás dela na ponte da baía e trocou o pneu furado de seu Volkswagen.
Surgiu uma pá torta de hélice, curvada num arco gracioso. Edward limpou a lama dos braços e do peito. Recostando-se numa das escadas baixadas para dentro do buraco, correu as mãos pelo motor, buscando os carburadores e as aberturas de escapamento. David saíra da hospedaria e atravessava o lamaçal, trazendo uma bandeja com copos de cerveja, distraindo-se a observar uma criança que brincava com um cachorro.
- É um Spitfire - disse alguém. Um dos membros da equipe de escavação, um médico de Norwich, virou-se e ergueu o polegar para Sally, dirigindo-me um gesto de animação. Acenei para David, que se aproximava pelo matagal, olhando para a espuma nas ervas. Edward estava limpando com jatos de água a parte de cima da fuselagem, expondo o capo da carlinga e as rasgadas chapas de metal no ponto em que a cauda fora arrancada. Parecia preocupado com alguma coisa que tinha descoberto e interrompeu o jato de água, balançando a cabeça.
Ouviu-se um grito, seguido por outro momento de silêncio, enquanto todos olhavam para dentro do buraco. O médico de Norwich fez um sinal para os homens da chata, e o motor diesel parou de funcionar. Os operários se aproximaram mais do buraco.
- O que foi? - perguntou Sally. - Alguma coisa com Edward?
- Ele está bem. O capo está fechado.
- E daí? Isso é importante?
- Provavelmente o piloto ainda está lá dentro. - Baixei a voz. - Se tivesse saltado de pára-quedas, o capo teria se despedaçado com o impacto.
- Deus do céu.-Sally fez uma careta, abraçando a filha com força, no momento em que David chegava com a bandeja de cerveja. - Sinto muito, Jim. Não devíamos ter vindo. Achei que você e David gostariam de...
- Não... - Coloquei a mão em seu ombro, procurando tranqüilizá-la. - Foi bom termos vindo.
- O que está havendo? - David passou por nós, caminhando para o buraco. - Alguém se machucou?
- Não, mas...
Acompanhei-o até a beirada do fosso. Os copos de cerveja foram distribuídos, mas ninguém bebeu. Com chaves inglesas nas mãos, Edward e o médico montaram sobre a fuselagem, como marinheiros soltando uma vela. A capota, com o plástico negro ainda intacto, foi erguida sem esforço, deixando ver uma massa compacta de limo antigo, moldada pela capota.
Esperei enquanto baldes de água eram baixados e a mangueira de sucção retirava o limo liqüefeito. David continuou a meu lado, muito sério, bebendo sua cerveja. A brisa lhe agitava os cabelos claros, como um frenético semáforo. Observei-o lamber a espuma grossa. Gotículas brancas se prendiam às finas cicatrizes, balões em miniatura a comemorar aqueles resíduos de seu acidente.
Na carlinga haviam aparecido mostradores de instrumentos, com seus últimos registros ainda conservados depois de tantas décadas. Surgiu o manche, alguns fragmentos de couro enegrecido e as tiras do ames do piloto.
- A carlinga está vazia... Ele deve ter saltado - disse eu a David, mas ele balançou a cabeça e pôs o copo em minha mão livre. Edward estava puxando um embrulho de couro, preso por tiras meio podres, que se achava debaixo do assento, talvez um pára-quedas sobressalente deixado pelo piloto.
Estendendo a mão para dentro da carlinga, Edward soltou o embrulho e o colocou sobre o assento, limpando-o depois com um jato de água e a mangueira de sucção. David chamou-o e abriu caminho entre os operários. Passou por cima da estacada de aço e pôs os pés numa das escadas, ainda com seu paletó cinzento. Um operário apontou para a lama que já lhe sujava as calças, mas David não lhe deu atenção e afundou até os joelhos no limo que enchia o fundo da escavação. Metendo os braços na carlinga, ele ajudou Edward a soltar o conteúdo do embrulho de couro. Percebi então que estavam segurando os restos de um macacão de vôo, de um blusão e de um capacete. Logo entrevi os dentes chanfrados e os ossos nasais de uma pequena caveira. Sem pensar, tomei um gole da cerveja de David, e surpreendeu-me o quanto estava gelada.
O oficial-aviador Pierce foi enterrado duas semanas depois, no pequeno cemitério junto da igreja, à vista do estuário no qual ele havia se precipitado numa manhã de junho, 38 anos antes. Seu túmulo ficava entre as desgastadas lápides de gente do lugar e de seis pilotos da RAF ali sepultados durante a guerra. Nenhum parente de Pierce estava presente; o único sobrevivente de sua família era um primo idoso, que morava na Nova Zelândia, mas a RAF providenciou a guarda de honra que comparecia aos enterros de aviadores do tempo da guerra, recém-descobertos, e dois ex-pilotos de seu esquadrão fizeram questão de assistir ao sepultamento.
Em pé atrás desses homens já idosos, cujas medalhas polidas reluziam nas lapelas escuras de seus paletós, achei difícil acreditar que o oficial Pierce, no caso de ter saltado em segurança de seu Spitfire, teria agora mais de sessenta anos. O pequeno esqueleto no embrulho coriáceo de seu traje de vôo parecia o de um adolescente, uma criança que tivesse conseguido ingressar numa base aérea mentindo quanto à idade.
Lembrei-me de Edward e do médico de Norwich estendendo o embrulho achatado no chão molhado do fosso, ao lado da massa exposta do motor Merlin. Ao abrirem com cuidado o couro mumificado, tinham achado alguns ossinhos, uma omoplata e várias costelas, insuficientes para formar o esqueleto de um homem adulto. Com o terno todo enlameado, David subira na carlinga e se instalara no assento do piloto, remexendo com as mãos no limo que cobria o chão da fuselagem.
Enquanto ele tateava sob o painel de instrumentos e entre os pedais de freios, imaginei-o nos controles daquele Spitfire, num campo de grama de um ponto qualquer do sul da Inglaterra em 1940. Se ele ou eu fôssemos alguns anos mais velhos, teríamos regressado à Inglaterra para lutar na guerra, e nossos ossos bem poderiam estar sendo trazidos à luz por aqueles arqueólogos de fim de semana. Pensei nos aviões japoneses e chineses acidentados no aeródromo de Hungjao, e me lembrei de que, aos dez anos de idade, eu muitas vezes subira à carlinga de um esquecido caça abandonado no capinzal. Havia brincado com seus enferrujados controles mais ou menos na mesma época em que o oficial-piloto Pierce morria dentro de seu Spitfire, no fundo daquele estuário de Norfolk.
Por sorte, o sepultamento de seus ossos havia concedido descanso a outro jovem piloto. David relutara em sair do local da escavação. Sentado na carlinga, com os braços negros de lama, erguera os olhos para o céu, como se, deixando para trás as lembranças profundas de décadas, estivesse renascendo. Ficou a meu lado durante todo o serviço fúnebre, usando o uniforme da RAF pela primeira vez em vinte anos. De cabeça erguida na brisa suave, ele sorria e voltara a ser jovem, e a boca assumia o mesmo ar irônico que eu recordava do tempo de nossas brincadeiras de infância. Fora com aquela expressão insolente que ele tinha olhado para o comandante do campo de Lunghua, o Sr. Hyashi.
Fiquei com medo de que ele provocasse uma cena, mas compreendi depois que na realidade sua recuperação começara no momento em que voltara pelos lamarões com a bandeja de copos de cerveja. David levara consigo ao funeral um amigo do mundo da aviação, um corpulento sul-coreano que fora piloto da JAL e agora trabalhava no aeroporto de Londres. Fiquei intrigado com o fato de David ter convidado aquele impassível executivo de meia-idade a fazer a longa viagem até um modesto cemitério em Norfolk. Depois, entretanto, entendi que ter a seu lado um piloto coreano aposentado quase eqüivalia, para David, a pedir a um japonês que assistisse ao enterro de todos os seus ressentimentos dos últimos quarenta anos.
Desde o começo, era do conhecimento geral que eu me sentia contrafeito só ao pensar no último projeto de Dick Sutherland para a televisão. Cleo Churchill insistiu comigo para que eu não participasse dele, pois o documentário proposto lhe parecia de extremo mau gosto, por servir de instrumento ao lado exibicionista da personalidade de Dick. Mais tolerante em relação a Dick e admirando-lhe a coragem, eu tentara fugir a seu convite, mas por outros motivos. Anos depois, inúmeros programas semelhantes viriam a ser veiculados na televisão, e a preparação desses filmes se tornaria parte do processo terapêutico através do qual os doentes terminais se preparavam para o desenlace. No entanto, em 1979 a idéia de um registro cinematográfico explícito das últimas semanas que antecediam a morte de uma pessoa parecia simplesmente pornográfica.
Entretanto, como fiz ver a Cleo, o filme correspondia à lógica da vida de Dick. Ele só se sentira plenamente vivo na tela da tevê e, num sentido macabro, só estaria inteiramente morto se suas últimas semanas e até o momento de sua morte acontecessem sob a lente da câmara. Um produtor da BBC já se mostrara interessado no projeto e imaginara um esquema pelo qual o filme de Dick seria incorporado a uma série sobre os tabus que cercavam esse tema sobre o qual todos se calavam.
- Tabus?-Cleo pronunciou a palavra em tom zombeteiro, quando discutimos o assunto no escritório de sua editora, tendo o cuidado de separar-se de mim atrás de uma barricada de saudáveis livros infantis. - Na verdade ele vai fazer um filme indecente. Jim, ele está encenando uma morte verdadeiramente pornográfica, na qual é, por assim dizer, violentado e morto pelas emoções provocadas em todos os espectadores no horário nobre. E você vai participar disso?
- Cleo... Isso é injusto. Pense além do filme. Aldous Huxley tomou LSD enquanto agonizava... Talvez seja esta a maneira de Dick lidar com um desafio que ele não consegue enfrentar. É provável que o filme nunca venha a ser exibido e, aliás, eu me aventuro a dizer que ele sabe disso.
- E você sabe? Conversa fiada!
Três semanas antes, depois de uma luta exaustiva contra um câncer de tireóide, Dick dera alta a si mesmo e deixara o hospital. Uma maquiladora que nos preparava para um programa tipo mesa-redonda, tarde da noite, fora a primeira pessoa a notar a inchação. Eu estava esperando que Dick desocupasse a cadeira diante do espelho, cercado por luzes e por vidros de cosméticos. Sua garganta latejou quando a maquiladora apontou seu intumescido pomo-de-adão. Dick me olhou pelo espelho, como se consciente de que havia se intrometido no roteiro uma nova dimensão para a qual seus muitos anos de tevê não o haviam preparado.
Ele se manteve meio alheio durante a gravação, embora exteriormente fosse a mesma figura de tevê de sempre, seguro de si e simpático. Pensei, maldosamente, que bastava aquela pequena inchação, provavelmente um quisto ou uma branda deficiência de iodo, para atingi-lo em seu ponto mais vulnerável - o próprio corpo. Ele sorria e falava para a câmara, mas de repente seu conhecido repertório de gestos e maneirismos pareceu uma couraça decorativa que se soltasse de um herói cambaleante. Quando lhe dei uma carona para Richmond, antes de ir para Shepperton, ele já estava se queixando de dor de garganta, quase que precisando de punir o corpo. Eu sabia que ele estivera um pouco doente no ano anterior, e insisti para que procurasse seu médico.
Pouco tempo depois, Dick foi internado no hospital para observação, entrando no mundo paradoxal da medicina moderna, caracterizado por especialização profissional, tecnologia superdesenvolvida e completa incerteza. Como Dick observou durante minha primeira visita ao Kingston Hospital, as reações tradicionalmente atribuídas aos pacientes - tendência à fantasia, rejeição da verdade, esperança irracional e desesperança gerada por pessimismo - na verdade eram típicas de seus médicos.
- É preciso compreender - sussurrou-me ele depois que uma enfermeira evitou responder a uma pergunta direta sobre o que ele suspeitava ser um câncer - que a principal preocupação dos médicos, a mais importante, consiste em se proteger dos pacientes. Nós os perturbamos e os levamos a se sentirem vagamente culpados. Fazemos perguntas que eles sabem que não podem responder... Só há uma coisa que eles realmente querem que a gente faça: ir embora ou fingir que não há nada de errado conosco. O que eles gostam mesmo é de nos internar no hospital e depois ouvir-nos dizer que nos sentimos bem, mesmo que estejamos à porta da morte.
Apesar da perspectiva de uma cirurgia exploratória, Dick já recuperara o bom humor. Brincava com as enfermeiras e fazia agrados às assustadoras irmãs de caridade, prometendo-lhes papéis em sua próxima série de tevê. No entanto, a lógica redutora e opressiva da vida hospitalar começou a cobrar seu tributo, e ele foi bastante perspicaz para ver o que havia por trás da fachada de otimismo da enfermaria.
- É impressionante como as enfermeiras são festivas - comentei. - Fico com a impressão de que eu devia deitar no primeiro leito vazio que encontrasse.
- Não creio que seja uma boa idéia. Lembre-se de que elas são como recepcionistas de uma boate, que sabem que os clientes não vão gostar do show. - Dick recostou-se nos travesseiros, e seus olhos astutos esquadrinharam a enfermaria. - É interessante observar que quanto mais alto o médico se encontra na escala profissional, mais deprimido ele fica. O clínico geral e os acadêmicos se mostram razoavelmente alegres... porque podem passar para a frente as decisões sérias. Mas quando você fala com os diretores de departamento, o abatimento se aprofunda, porque eles compreendem que não podem fazer quase nada para ajudá-lo. O câncer terminal é a pior coisa que essas pessoas têm de enfrentar... Ele lhes lembra o quanto a medicina é realmente impotente.
Entretanto, quando voltei a vê-lo, nada mais restava do bom humor de Dick. Depois da cirurgia, tinha acordado sentindo dores fortes, incapaz de engolir e convencido de que outra garganta fora transplantada para onde ficava a sua. Baixando a atadura, mostrou-me a incisão, que ia de uma orelha a outra, fechada por grampos de metal e coberta de sangue coagulado. Recebeu alta três dias depois, e daí a uma semana voltou aos especialistas para receber os resultados da biópsia.
Longe de esclarecer a verdadeira natureza de seu estado, a operação só servira para aumentar a confusão. Por fim, Dick fora atendido por um especialista, que fez um relato entusiástico dos benefícios educacionais dos programas de tevê sobre medicina. Dick contou, com um prazer cruel, que quando ele usou a palavra “câncer” o médico reagiu com uma censura silenciosa, seguida por uma dissertação sobre a falta de sentido desse termo no contexto da medicina moderna. Por fim, como que pensando melhor, o médico recomendou a ablação radical da tireóide, garantindo a Dick que reabriria a cicatriz anterior, de modo a preservar seu pescoço para as câmaras de tevê.
- O mais extraordinário - confidenciou Dick a Cleo e a mim - é que ninguém me diz que eu tenho câncer. É como se quisessem esconder a notícia de si mesmos, ainda que eu mesmo tenha conseguido encarar os fatos. Agora eu me sinto quase culpado. Um tumor cerebral, com um monte de metastases nos pulmões e no fígado teria sido o mais decente...
Cleo e eu ficamos admirados com a coragem e a boa disposição de Dick. Infelizmente, porém, depois da segunda operação ele as perdeu de todo. A remoção completa da tireóide baixou seu metabolismo, e ele ficou letárgico e desanimado, apesar das elevadas doses de cálcio. Seu aspecto mudou radicalmente. Uma longa mandíbula pontuda projetou-se de seu pescoço, e tanto Cleo quanto eu notamos que ele já não se olhava no espelho que uma enfermeira lhe dera.
Quando chegávamos, ele nos fitava como se pertencêssemos a uma espécie de outro planeta, e seus verdadeiros companheiros eram os outros pacientes da enfermaria. Percebi que ele lamentava suas próprias fantasias, das quais a maior fora a tentativa aparentemente sincera de descobrir a verdade a respeito de seu câncer. Tratava-se de um blefe que agora cessara. Sua atitude para com as enfermeiras também se modificara. Toda a ironia e o bom humor haviam desaparecido, e ele estava muito mais dócil e cooperativo, como um preso rebelde que finalmente aceitasse as regras tácitas de uma instituição.
Esgotado pela radioterapia, Dick ficava prostrado sobre os travesseiros, com a calva coberta por um boné de beisebol da NASA que Cleo achara na sala de computação dele, em Richmond. Dick se desinteressara por si mesmo, e nem as enfermeiras nem o chefe da clínica, com quem conversamos, pareciam ter uma idéia clara de seu verdadeiro estado. Preocupado com seus próprios problemas, o hospital atuava num mundo paralelo ao dos pacientes.
Depois de três semanas de radioterapia, Dick veio a saber que ainda era necessário erradicar uma porção restante de tecido maligno. Estava agora inteiramente calvo e já não se dava ao trabalho de usar o boné da NASA ou esconder o pescoço devastado. Apoiando-se em meu braço, ele caminhou com dificuldade até a ambulância que o levaria ao lugar que, num momento de corajoso mas cansado humor, ele chamou de “o Caesar's Palace da terapia oncológica” - o Royal Marsden Hospital, ao sul de Londres.
Esse hospital ultramoderno parecia um hotel-cassino em Las Vegas. Seus corredores arejados eram decorados com cartazes de pop-art, e Dick ganhou um quarto particular, com telefone, televisão e banheiro. Na realidade, tratava-se de uma cela solitária, e ali ele ficou encarcerado durante nove dias, vigiado pelo contador Geiger sobre sua cabeça, até ter excretado o último resíduo de iodo radioativo. Quando ele falava conosco pelo telefone - Cleo e eu ficávamos separado dele por vidraças, sob uma luz de advertência de néon -, sua voz parecia provir de um toca-fitas cuja velocidade oscilasse. As enfermeiras que entravam no quarto para pegar amostras de sangue e urina usavam luvas grossas e macacões protetores, e saíam dali o mais depressa possível, como conspiradores que montassem um artefato mortal com o mais curto dos pavios.
Apesar de algum êxito na erradicação do tumor, células malignas tinham-se fixado na espinha e no fígado. Dick estava agora fraco demais para resistir à continuação do tratamento no Marsden, a ambulância o devolveu ao Kingston Hospital, onde ele voltou a ser internado na ala de quimioterapia.
Ali, deixado para se recuperar e sem medicação, ele começou a melhorar. Fui tomado por uma onda de afeição por ele, ao vê-lo procurar animar-se, sentando-se na cama para experimentar a peruca nova, arrastando os pés pelas escadas, esticando o pescoço nas janelas para ver o rio e sua casa de Richmond a distância, e até fazendo perguntas a Cleo sobre sua vida profissional. Quando ele estivesse forte o suficiente para submeter-se à quimioterapia, seria transferido para um quarto estéril que lhe daria ao deprimido sistema imunológico a melhor possibilidade de combater alguma infecção.
Certificando-se antes de que as enfermeiras não estavam por perto, Dick me levou rapidamente à pequena cela esterilizada que estava sendo preparada para ele, um cubículo destituído de todo mobiliário e equipamentos que pudessem abrigar bactérias, com porta e janelas vedadas e um sistema de ventilação que se assemelhava ao de um submarino em miniatura. Estranhamente, a tela de um televisor estava embutida na parede atrás de um vidro grosso, como se até a televisão estivesse se afastando de Dick.
- Aconchegante, não é? - Encolhido dentro de seu roupão, ele ajeitou a peruca e convidou-me, com um gesto, para sairmos dali. - O lugar ideal para se ter a última visão do mundo. Notou a tela de tevê? É como uma retina vista por trás.
- Vamos, Dick... - Segurei-lhe o braço enquanto ele se afastava, coxeando, e percebi o quanto estava mais forte, como um velho rijo e resoluto. - Você está bem melhor... Talvez nunca vá para lá. Acho que é isso que vai acontecer.
- Estou mesmo sentindo isso... - Dick deixou que eu o ajudasse a sentar-se num sofá no parlatório, e depois puxou uma cadeira de madeira para mim.
Seu olhar se tornou distante, e percebi então o quanto ele mudara. Havia perdido todas as ilusões a seu respeito - sempre gostara de ser reconhecido em público, mas agora ninguém, nem as enfermeiras nem os outros pacientes, lembrava-se do apresentador-psicólogo que havia sido a figura de destaque de tantos programas de divulgação científica. Dick parecia não se importar. Para mostrar sua indiferença pelo que tinha sido, escolhera uma peruca dourada grande demais, quase uma caricatura de seus cabelos claros.
- Você vai ter tempo para ler - comentei. - Cleo tem a chave de sua casa e pode pegar nas estantes qualquer coisa que você queira.
- Não... Estou muito ocupado observando todo mundo aqui. - Puxou meu braço e sussurrou: - A gente tem de admirar as pessoas. A maioria delas está muito pior do que eu... Tiraram metros de intestinos, perderam metade da boca, costelas e sabe-se lá mais o quê. No entanto, parecem extras de cinema prontos para representar uma cena de festa.
- Quer que eu traga uma câmara para você?
- É uma idéia. Na verdade...-Dick olhou para mim como se afinal me reconhecesse. - Dizem que a produção de uma fábrica sempre cai depois da visita de uma equipe de filmagem. Aqui, eu esperaria um efeito oposto. Talvez haja nos hospitais excesso de telas de tevê e falta de câmaras. Jim, fale sobre Cleo e as crianças. Aliás, quero lhe dizer uma coisa. É bom ver você.
Minha sugestão tinha lançado raízes. Ele estava se animando, tentando interessar-se por nosso mundo despropositado. Olhando para sua mandíbula longa e saliente, senti que ele recuperava certa força de vontade, se não para sobreviver, ao menos para usar o tempo que lhe sobrava.
No domingo seguinte, quando o visitei no hospital, soube que ele dera alta a si próprio e voltara para casa.
- Parece que me restam três ou quatro meses, talvez seis - explicou Dick ao nos sentarmos em sua sala de computação. - Tanto Omnibus quanto Horizon mostraram muito interesse...
- Tem certeza, Dick?
- Instalaram luzes e equipamentos para mim, e também uma espécie de câmara de vídeo estática em que podemos falar. A idéia é mostrar o que realmente acontece quando nos aproximamos do fim, e quebrar todos os tabus e preconceitos. Nada de muita eloqüência sobre a vida e a morte, mas usar a linguagem mais coloquial possível. Vamos começar com alguma coisa simples, só para fazer a bola rolar: os dez melhores filmes que já foram feitos, nossas últimas viagens a Nova York, Chomsky versus Skinner. A maior parte será gravada aqui, mas no final vamos passar para o andar de cima...
Ele falava num tom confiante e prosaico, sentado confortavelmente à mesa, como se estivesse de volta a seu velho gabinete no Instituto de Psicologia. Impressionou-me a facilidade com que dominava a situação
- havia encontrado um papel para si, o que eu considerava uma demonstração de sereno heroísmo, mas que ele via simplesmente como a forma mais interessante de usar o tempo que lhe restava. Ele havia até perdido peso, e usava uma camisa de colarinho alto e um lenço de seda para cobrir o queixo. Uma peruca menor e mais bem-feita permitia que, sob determinada luz, ele ficasse parecido com o homem que fora, mas percebi mais uma vez que ele começara a rejeitar a personalidade afável e bem-humorada que eu conhecera durante tantos anos.
De maneira geral, ele apresentava notável melhora em relação aos meses de tratamento médico. Estaria vivendo um daqueles períodos de remissão que dão falsas esperanças à vítima? Ou, como eu ainda esperava, teria realmente recobrado a saúde? Quanto a seu documentário macabro, na pior das hipóteses tratava-se de uma aposta final, a de que sua sobrevivência invalidasse o projeto. Ou, talvez, tendo-se livrado de todas as ilusões na sala de radioterapia do Marsden, ele estivesse agora livre para aceitar qualquer idéia maluca que fosse capaz de preencher seus últimos dias.
Como logo viemos a descobrir, a melhora de seu estado não passara de uma breve oscilação num gráfico continuamente descendente. Os especialistas do Marsden tinham combinado com o médico de Dick em Richmond o fornecimento das drogas que conteriam as metastases. Agora, o que o mataria era a cura, e não a doença. O câncer não se espalharia, porém as crescentes dosagens de drogas destruiriam seu sistema imunológico, de modo que a mais leve infecção respiratória se converteria numa pneumonia fatal.
Entretanto, essas ironias já não atingiam Dick. Ele conservava o vigor que lhe restava a fim de realizar uma importante experiência psicológica que representaria um teste para o público, tanto quanto para si mesmo. Durante nossa primeira conversa gravada, para verificar o equipamento, achei difícil emitir qualquer som, como se minha garganta tentasse imitar a laringe devastada de Dick. Nosso segundo encontro foi cancelado porque tive um resfriado forte. Mas Dick insistia. Por motivos pessoais, decidira que eu deveria ser o moderador, em parte porque fora eu quem lhe sugerira o documentário, mas também porque ele queria envolver-me diretamente em sua morte.
Sentado em seu estúdio, enquanto nos preparávamos para a primeira sessão, lamentei ter dado aquela idéia. Quando Dick finalmente se instalou atrás de sua mesa, pude perceber que o esforço de se acalmar para a entrevista o deixara quase exausto. O vigoroso ator-psicólogo se transformara num ancião encolhido e maguado, que sumia debaixo de sua peruca empoada, e rezei para que a equipe da BBC desistisse de tudo aquilo. Agora, porém, tudo era grão para o moinho da televisão, como os afiados cilindros que, nos abatedouros, retiravam os últimos retalhos de cartilagem de uma carcaça.
Enquanto esperávamos que o engenheiro de som ajustasse seus controles, notei que Dick tirara das paredes do estúdio as placas de carros da Califórnia, os descansos de copos de Cocoa Beach e os distintivos de imprensa de Cabo Kennedy. Durante o desenrolar de nossas entrevistas haveriam de sumir outros desses instantes do passado, como se ele estivesse desmontando conscientemente a elaborada mitologia com que cuidadosamente se cercara.
Mas ao começar a falar para a câmara, logo recobrou a energia.
- ... Muita gente já deixou relatos detalhados sobre o término da vida, desde os estóicos gregos até os médicos judeus do gueto de Varsóvia, pessoas que fizeram registros precisos do processo da morte pela fome. No passado, todo mundo sabia o que acontecia quando um ser humano morria: os parentes se reuniam em torno do leito de morte, fazendo o que podiam para consolar o moribundo, e a maior parte das pessoas morria em casa. Mas hoje em geral só tomamos conhecimento da morte quando ela chega para a gente... A maioria das pessoas morre no hospital, cercadas por máquinas, e é muito difícil para nós ver uma pessoa morrer, sobretudo quando se trata de um ente querido. Por quê? O que há de tão perturbador na morte? Nesta série, vamos examinar a morte através dos olhos de um moribundo... eu. Eu sou o Dr. Dick Sutherland. Há três meses, meu médico me comunicou que...
Enquanto Dick descansava, depois de sua introdução, notei sobre a mesa o relógio digital que marcava a data, 23 de setembro de 1979. Os minutos e as horas avançavam, piscando em letras verdes, sem se impressionarem com a câmara ou com o comentário de Dick. Ele se sentou numa espreguiçadeira no banheiro, enquanto o diretor e o produtor da série conversavam sobre as poucas hesitações ou falhas de dicção. Decidiram que, dada a natureza do documentário, esses defeitos só acentuariam sua autenticidade, apesar dos problemas que provocariam para a dublagem de versões em línguas estrangeiras, vendidas para o exterior. Meu próprio papel, felizmente, limitava-se a fazer a Dick algumas perguntas gerais sobre seu estado de espírito.
- ... Como realmente me sinto? Quer saber se a idéia de que tudo isto vai acabar dentro de dois meses... aliás, antes do último episódio de uma série de tevê que estou acompanhando... me leva ao pânico completo? Se eu passo o dia inteiro apavorado, como uma vítima num filme de terror? Se sinto alguma coisa, é tranqüilidade e alheamento, como se tudo isto estivesse acontecendo a outra pessoa. O cérebro parece ter desenvolvido um processo de autodistanciamento, como uma locomotiva que se desengata dos vagões que estava puxando. Para dizer a verdade, o maior problema enfrentado por quem se aproxima da morte é a reação das outras pessoas, principalmente dos seus amigos. Num sentido muito concreto, os moribundos têm de morrer duas vezes, uma para si mesmos e outra para os amigos...
Será que Dick acreditava nisso? Sua irmã e o marido, um contador aposentado de Dundee, tinham-se mudado para a casa de Richmond a fim de cuidar dele, mas eram discretos e sensíveis. Ao voltar para casa, ocorreu-me que Dick tinha muitos conhecidos, mas praticamente nenhum outro amigo íntimo além de mim. Teria ele ficado ressentido com meu interesse e minhas visitas ao hospital? Ou seriam os amigos para quem ele tinha de morrer outra vez o invisível público da tevê, que o admirara durante tantos anos e que agora ele precisava satisfazer?
Entretanto, toda e qualquer preocupação com um público havia desaparecido por ocasião de nossa segunda entrevista. A primeira gravação me deixara tonto. Incapaz de trabalhar, eu vagueava de um quarto para outro. O tempo parecia transtornado, como uma tarde interminável numa cidade estranha. Quando cheguei a Richmond, uma hora adiantado, Dick mal pareceu me reconhecer, e consultou sua agenda como que para se recordar. Durante a gravação ele se manteve sentado rigidamente atrás da mesa, com um sorriso corajoso, embora débil, e descreveu suas atividades na semana anterior - atividades que, estranhamente, assemelhavam-se às minhas.
Notei que mais lembranças tinham saído das paredes, como os canhotos das entradas para a estréia de 2007 no Rio e as fotografias em que ele aparecia com os astronautas americanos no Centro Espacial de Houston. Imaginei que ele estivesse eliminando esses testemunhos dos últimos vinte anos para poder retornar à juventude. Mais animado diante da câmara, ele falou de sua infância na Escócia e da escola que, durante a guerra, freqüentara na Austrália, para onde ele e a irmã tinham sido mandados.
- ... Pensar nos japoneses durante os primeiros anos da guerra era mais ou menos como pensar na morte. Todo mundo na Austrália tinha um certo medo dos japoneses e sabia que eles estavam se aproximando, mas ninguém nunca tinha visto um deles. Evidentemente, a idéia que fazíamos dos japoneses era uma completa caricatura... Muito diferente de seu caso, Jim, já que durante a guerra você morava em Xangai. Você sabia exatamente como eram os japoneses, e além disso conhecia bastante a morte. Hoje, em retrospecto, como acha que isto o afetou?
Eu estava prestando atenção no gravador de fita e, ao me virar, vi que Dick me observava com olhos surpreendentemente claros. Sua cabeça erguida deixava ver a enorme cicatriz na garganta.
Respondi desajeitadamente:
- Realmente, eu vi muita gente morta... como era de se esperar numa guerra. Em certo sentido, acho que foi uma coisa muito corruptora...
- Continue... Você disse corruptora, mas explique melhor.
- Bem... Quem se desvalorizava não eram os mortos, mas sim os vivos. Nossas expectativas quanto à vida se reduziam.
- Isso não acontecia porque, para começar, eram altas demais? - Antes que eu pudesse responder, Dick prosseguiu, com uma última onda de vitalidade: - Não será por que temos idéias exageradas em relação à vida, expectativas que só percebemos serem irreais quando a vida vai chegando ao fim? É bem possível que tenhamos permitido que a vida e a morte se tomassem coisas polarizadas, quando na verdade estão muito mais perto uma da outra do que imaginamos. À medida que eu chego perto de minha própria morte, a distância parece se encurtar...
Depois da gravação, Dick segurou minha mão com carinho, mas distraidamente. Caminhou, com passo duro, até a sala de jantar, que dava para o jardim de muros altos. Teria ele começado a me esquecer, juntamente com os descansos de copos de cerveja e as placas de carros americanos? No entanto, sua pergunta, aparentemente feita de improviso, fora reveladora. Ela fora dirigida mais a mim do que ao público que assistiria à série. Era uma investigação breve, mas perspicaz, de minhas próprias motivações e de minha personalidade.
O intervalo entre nossas gravações parecia alongar-se, como se estivéssemos aplicando ao tempo um freio inconsciente, numa tentativa de deter o fim iminente. Da fisionomia emaciada de Dick surgia um homem diferente, muito mais seguro de si do que a mega-estrela da televisão em que ele se transformara através de auto-sedução. Na terceira e na quarta sessões de gravação, ele estava meio ofegante e falava num tom quase impaciente, descrevendo o prazer que extraía do mundo cotidiano que o rodeava, do jardim e do tanque de peixinhos, de sua sensação de triunfo por conquistar a afeição do gato dos vizinhos. Mas esses prazeres pareciam abstratos como os lances de uma partida de xadrez. Achei que ele estava penetrando num mundo onde, vendo tudo com absoluta clareza, já não se se dava ao trabalho de usufruir qualquer prazer.
Nossa quinta gravação foi cancelada, e pensei que Dick resolvera encerrar a série. Entretanto, sua irmã me disse que ele havia voltado por algum tempo ao Marsden, a fim de começar um novo tratamento com drogas, para estabilizar um tumor secundário no joelho. A essa altura, dois meses depois de ter deixado o hospital por decisão própria, ele fazia um esforço contínuo para respirar, e os lobos aumentados do fígado lhe empurravam o diafragma para a caixa torácica. No dia marcado para nossa entrevista, sua irmã e eu batemos à porta de seu quarto, sem que ele respondesse. Ao entrarmos, demos com as janelas-portas abertas para o ar frio de novembro. Vestido em seu roupão de lã, Dick estava sentado no jardim, olhando para a casa sem nos ver. Eu tinha observado o mesmo olhar fixo na cadela de pêlo pardo de nosso vizinho quando ela entrara no jardim para morrer. Só quando Dick se levantou e caminhou lentamente em nossa direção foi que o tempo recomeçou.
Sem uma palavra, ele me conduziu à sua sala de computação, onde fora montada uma pequena suíte de edição. Antes que a equipe da BBC chegasse, Dick começou a rodar o filme de nossas conversas anteriores. Mudando os trechos de gravação com os dedos impacientes, ele se observava. Até então, eu tinha achado bom que a tela de tevê estivesse ajudando a lhe facilitar os últimos dias. O meio que trivializara sua carreira científica parecia ter vindo em seu socorro, mas agora sua magia se turvara.
O pessoal da BBC chegou, e ouvimos suas vozes baixas no vestibule Em geral, quando eles apareciam Dick se animava um pouco, e a expressão voltava a seu rosto como um balde puxado do fundo de um poço escuro. Dessa vez, porém, ele não lhes deu atenção, fitando a tela vazia. Levei a mão a seu braço, pensando que ele houvesse perdido a consciência, mas seus olhos estavam alerta.
- Eles chegaram, Dick...
- Diga a eles que esperem. - Dick dirigiu um gesto de desdém para a tela. - O produtor perdeu o ânimo... quer mudar a “orientação” da série. Você consegue acreditar nisso? Um pouco tarde, não é? Incluir outros assuntos, como o que eu penso agora do aborto. Aborto... Genocídio por conta própria... Ele não gostou disso. - Riu baixinho, massagean-do o joelho por cima do pijama.
- Você pode andar, Dick? Vou trazer a cadeira de rodas.
- Não... Só tenho que ir até o fim do corredor. O médico do Marsden falou de uma perna mecânica. As maravilhas da prótese moderna, santo Deus... O complexo de castração elevado ao nível de uma arte. Explicou que estão perto de “compreender” a doença... Não se dão conta de que em breve vão ser esmagados por uma epidemia de doenças imaginárias. Aquilo que mais prezamos é uma versão corrupta de nós próprios.-Dick segurou-me pelo pulso, percebendo que eu tremia. - Agora, esta experiência... Terá de ser assumida por outra pessoa. Talvez um dia, quem sabe...
Essas foram as últimas palavras que Dick me dirigiu. Levantou-se e entrou devagar no quarto, acenando para mim, ainda de costas. Fechou a porta, deixando-me a obrigação de pedir desculpas à equipe da tevê. Havia se referido com a máxima naturalidade à nossa “experiência”, e percebi que ele tomara parte no documentário com uma só intenção em mente. A série fora um estratagema desesperado, o único que o poderia ter salvado. Dick tinha literalmente depositado sua fé em minha profecia irônica de que ele haveria de fazer a primeira grande descoberta científica na televisão, e apostara, contra toda a lógica, que essa descoberta científica seria sua recuperação de um câncer inoperável.
Nossa última entrevista nunca chegou a acontecer. Quando cheguei à sua casa uma quinzena depois, havia uma ambulância estacionada diante dela. No vestíbulo se achavam o médico de Dick e uma enfermeira, além de sua irmã e do marido, todos iluminados pelo fulgor das luzes da televisão através da porta do quarto de Dick. Ele deveria gravar suas últimas reflexões sobre sua vida antes de ser levado ao hospital, mas era evidente que estava exausto demais para falar. O produtor conseguira persuadir o médico a permitir que fosse feita uma última tomada de Dick deitado na cama, na sala de jantar, ao lado da mesa escura de mogno e de suas cadeiras de encosto reto, uma cena preparada para um tribunal.
De pé na porta, atrás do operador da câmara, acenei para Dick, que tinha a máscara de oxigênio sobre o rosto, um tubo de glicose no braço e uma sonda metida num frasco de vidro debaixo da cama. Já não usava a peruca, e seu rosto parecia ter sido chupado para dentro da máscara, como se seu corpo minguado estivesse para escoar para o interior dos tubos que o rodeavam, tubos enrolados como o fio de telefone em torno do peito do rapaz chinês na plataforma ferroviária.
Um parque de diversões itinerante visitava Shepperton. Caminhando pela beira do rio, eu avistava, entre as árvores, os caminhões de mudanças que entravam no parque ao lado do monumento da guerra. Havia caminhões carregados com carrinhos de autopista e pedaços de carrossel, um sonho desfeito que aquela taciturna gente circense remontava a cada fim de semana em uma das cidadezinhas do vale do Tâmisa, relembrando aos habitantes um caminho esquecido de sua imaginação. As crianças que brincavam na margem do rio já tinham saído da água. Gritando para as mães, corriam para o parque, onde uma dúzia de veículos estava disposta em círculo, um fortim mágico que só crianças seriam capazes de tomar de assalto. Lembrei-me de Alice e Lucy a cavalgarem unicórnios, lado a lado, alegrias de seis pence que rendiam uma fortuna de emoção quando elas se punham a subir e descer no carrossel, as fitas a esvoaçarem, os braços enlaçando o pescoço dos unicórnios, os olhos arregalados cortando o ar. Henry ficava sentado, duro, em seu avião prateado, embaraçado por ser grande demais para a cabine, mas depois se levantava como um acrobata e agarrava o bordo de ataque da asa, um imponente Lindbergh de três anos.
Saí a perambular pelo arvoredo, quase que esperando encontrá-los à minha espera na entrada do parque de diversões. Tinham viajado para a universidade, onde já ia começar o período de verão, mas para mim seriam sempre crianças a brincar no parque. Os olhos brilhantes de Alice, o movimento do vestido branco de Lucy, o grito excitado de Henry ante uma nova idéia - essas coisas surgiam nos torvelinhos de ar e água como que evocadas por artes mágicas. Generoso, o parque entregava seus protegidos tesouros. Agitados pelo vento de verão, os grandes olmos deixavam cair suas memórias. Protegi os olhos do sol e levantei a vista para as ramagens balouçantes, em busca de um grupo de crianças encara-pitadas nos galhos, aquelas que hoje eram as jovens mães e os funcionários de escritório de Shepperton. Talvez até procurasse a mim mesmo na juventude, aquele rapaz de rosto ossudo e penteado esquisito, a quem eu mal reconhecia em nossos álbuns de fotografias.
Como se essas recordações o tivessem materializado, havia um rapaz na área de estacionamento, ao lado de seu carro-esporte Triumph. De terno e gravata, olhava para mim enquanto baixava a capota de lona. Sem ver direito sua expressão, embora ele parecesse me reconhecer, acompanhei as crianças na direção dos furgões. Pela placa, vi que o Triumph era de vinte anos atrás - do mesmo modelo que Dick Sutherland uma vez deixara que eu dirigisse.
Falando muito, a filha de um vizinho me alcançou. No momento em que segurou minha mão, chamando-me para o parque de diversões, o rapaz deixou o carro e começou a andar em minha direção. Seria um amigo de Alice e Lucy? Havia em seu rosto alguma coisa que me lembrou novamente a fotografia tirada antes de meu casamento. Os olmos se sacudiam sobre nós, agitando os cabelos da menina que me puxava pela mão, e por minha cabeça passou a idéia absurda de que aquele rapaz fosse eu. Ele me chamava, com a mão erguida.
- Por favor... O senhor é o pai...
Virei-me para cumprimentá-lo e esbarrei na irmã mais velha da menina, que tinha vindo atrás de nós. Ajudei-a a pegar o balde e a pá que tinham caído na grama, mas quando terminamos de trocar desculpas o rapaz já voltara para o carro. Travou a capota de lona, evitando meu olhar ao sentar-se atrás do volante. Concluí que ele me vira seguindo as crianças, velho demais para ser pai e jovem demais para ser avô, e suspeitara que eu pudesse ter alguma intenção ilícita.
O rapaz se afastou, o motor roncando ao fazer a curva do monumento aos mortos da guerra e dos pubs, lotados na hora do almoço. Depois que ele se foi, fiquei com a sensação de que por pouco eu não havia me encontrado comigo mesmo.
Essa sensação de um iminente encontro em algum lugar de Shepperton vinha crescendo em mim desde a morte de Dick Sutherland, seis meses antes. Eu acordava a cada manhã antecipando o trabalho do dia, estimulado pela luz quente da primavera e por uma misteriosa exaltação que tomara conta de mim. Eu esperara ficar deprimido com a morte de Dick, uma provação tornada ainda mais excruciante pelo documentário inacabado, mas o que eu sentia era uma imensa libertação.
O serviço fúnebre ecumênico, com sua música de órgão gravada e a liturgia falsamente solene, lembrara os ritos de uma nova religião ainda em desenvolvimento, um efeito que o grande contingente de produtores de televisão que compareceram só fazia acentuar. Por trás de seus óculos escuros, sempre sonhando com séries de doze capítulos, talvez eles vissem Dick como a personalidade-símbolo para a era da tevê planetária. Estávamos assistindo ao funeral de uma pessoa que, com enorme argúcia, já se enterrara nos arquivos de filmes da BBC.
Eu tomara o cuidado de prantear Dick enquanto ele ainda estava vivo, consciente de que reprises de seus velhos programas em breve surgiriam em nossas telinhas. Por mais que me desagradasse o documentário em que eu tomara parte, sentia-me grato a Dick por me haver escolhido como seu entrevistador. Ao desmistificar sua própria morte, ele me libertara de qualquer medo que eu pudesse ter da minha. Pela primeira vez desde o nascimento de meus filhos eu sentia estar inteiramente quite com o passado e livre para construir um novo mundo, usando os materiais do presente e do futuro.
O próprio tempo, por nos arremessar a destinos que ele próprio havia escolhido, começara a perder seu poder. Um dia durava tanto quanto eu desejava. Deixando de lado a máquina de escrever, eu era capaz de passar uma hora observando uma aranha tecer sua teia. Em minhas caminhadas pela beira do rio, eu me postava entre os olmos e esperava que o tempo se acalmasse, prestando atenção à sua respiração compassada enquanto ele caía sobre a floresta. Eu apreendia o mistério e a beleza de uma folha, a gentileza das árvores, a sabedoria da luz. Minha casinha, as ruas e os jardins tão conhecidos refulgiam com o mesmo ar enérgico que eu avistara durante minha experiência com o LSD, e naquele verão interminável em que Henry, Alice e Lucy tinham nascido.
Na entrada do parque de diversões, enquanto as mães conversavam entre si e remexiam nas bolsas, as crianças esperavam, impacientes, junto à bilheteria. Correram aos gritos na direção do carrossel, deixando para trás o filho solitário e de olhos acobreados do agente de notícias paquistanês. Ele olhou para mim, acanhado, enquanto eu comprava nossas entradas e correu para se juntar aos outros.
O carrossel girava, e as crianças se esgoelavam enquanto o velho órgão mecânico lançava no ar sua melodia esganiçada. Cavalos e unicór-nios subiam e desciam. Mãozinhas puxavam as crinas dos cavalos, rabos-de-cavalos sacudiam-se no ar e gritos de susto davam lugar a expressões de profunda seriedade.
Vendo as crianças rodarem, aproximei-me mais do carrossel. As luzes passavam em rodopio, carregadas pela música desentoada que trazia lembranças do vento, um sonho de meus próprios filhos quando tinham cavalgado aqueles descorados unicórnios. Um garotinho de dois anos pilotava com toda solenidade um avião em miniatura, assustado demais para chorar, os olhos postos, fascinados, nos tubos do órgão.
Detive-me diante dessa cena encantada, e o carrossel pareceu-me quase imóvel, preservado para sempre num instante eterno. Eu enxergava além dos pequenos cavaleiros, através da floresta prateada das engrenagens espiraladas e dos espelhos regirantes sobre o órgão. Todas as pessoas que eu havia conhecido montavam os unicórnios, Miriam e Dick Sutherland, uma Sally Mumford adolescente, um David Hunter juvenil. Dei um passo à frente, esperando uma montaria desocupada...
- Jim! Cuidado! O que está fazendo?
Uma coluna de madeira bateu em minha mão. O carrossel rodava num turbilhão de ruídos e luzes, um torvelinho barulhento de tinta descascada e dourados gretados. Caí para trás, sendo amparado por dois homens que vigiavam os filhos. Os braços firmes de uma mulher me sustentaram no momento em que cambaleei.
- Jim... Você quase desmaiou!-Cleo Churchill apertou meu rosto, observando-me com preocupação. - Achei que encontraria você aqui. Tive a impressão de que você estava querendo subir no carrossel...
O sol iluminava o jardim e as janelas de meu escritório, alegrando os espinheiros que marcavam o final do gramado.
- Ainda bem que você não dirige assim...-Cleo trouxe da cozinha dois copos de gim com gelo. - Jim, diga-me uma coisa... Você estava querendo juntar-se às crianças?
- Na verdade, não... - Consegui rir de mim mesmo e esfreguei a mão machucada. O fulgor rosado do bitter impregnava o gim como uma corrente sangüínea vista através de uma asa de borboleta. O dono do parque e seus robustos filhos tinham me mandado embora, suspeitando que eu tivesse más intenções. - Eu esqueci que a coisa estava rodando... um efeito do sol. Ele transformou o carrossel numa espécie de estroboscópio...
- Bem, acredito em você... Tente não parar carros na rua... Seria horrível ter de explicar isso para Lucy e Alice.
O ventilador sobre a lareira girava, e o reflexo do sol nos cabelos louros de Cleo reproduzia esse efeito curioso. A mesma aura que brincava em torno de seus ombros nus pairava sobre cada uma das folhas do jardim. Lamentei tê-la deixado preocupada - fazia meses que ela vinha dizendo que eu me achava encalhado em Shepperton, e o acidente no parque de diversões devia ter-lhe parecido outra de minhas tentativas de fuga para dentro de mim mesmo.
A essa altura velhos amigos, nunca nos tínhamos tornado amantes - um dia, pensativo e meio alto, eu descrevera isso para ela como uma omissão técnica, ao que ela reagira com um erguer de sobrancelhas, um sorriso sagaz e silêncio. Mas nossa amizade comum por Dick nos havia separado. Nossas diferentes perspectivas sobre aquele homem, notável, mas ambíguo, nos mantiveram apartados, uma distância acentuada por uma certa cautela que Cleo guardava em relação a mim. Agora que Dick se fora, tínhamos apenas a nós dois, aquele choque de identificação percebido em tantos funerais e a deixa para tantos realinhamentos.
Eu queria tocá-la, mas achava difícil me reconciliar com qualquer coisa que me rodeava, com o universo do desejo e até com o mundo dos objetos cotidianos. As mãos sensíveis e os lábios acanhados de Cleo, as folhas no caminho da garagem, o arco-íris no pára-brisa de meu carro - tudo isso se convertera em versões idealizadas de si mesmas. A morte de Dick transformara as mulheres que faziam compras na rua principal de Shepperton, os extras que saíam dos estúdios de cinema, as crianças no carrossel. Distanciadas de suas identidades do dia-a-dia, pareciam pairar além do mundo contingente do tempo e do espaço, exilados do paraíso do convencional.
Cleo colocara dois grossos envelopes pardos sobre minha mesa. Continham lembranças de Dick que sua irmã nos havia oferecido. Enquanto Cleo observava a cena, protegida pela segurança de seu copo de gim, tirei de dentro deles a placa da Califórnia, as fotografias amareladas de Dick na carlinga de seu Cessna de fins de semana ou posando ao lado de astronautas e cientistas espaciais em Cabo Kennedy, na década de 60. Havia descansos de copos do Tropicana Motel, em Hollywood, fichas de um cassino de Las Vegas e crachás de esquecidos congressos de psicologia.
Arrumei-os em ordem cronológica, tanto quanto eu podia recordar. As fotos e as lembranças eram trechos do filme de sua vida, no qual ele fora tanto ator principal quanto diretor. A vaidade sem artifícios do jovem Richard Sutherland só fazia crescer a afeição que eu lhe dedicava. Por felicidade, ele havia morrido tranqüilamente e sem dor, na paz profunda do coma hepático.
Cleo enxugou os olhos, pegando-me pelo braço.
- São como relíquias. Os ossos de um santo. Você vai guardar tudo?
- Acho que não preciso. Que tal cada um de nós pegar apenas um desses objetos? - Eu estava olhando para o céu brilhante de Shepperton, e lembrei-me de Dick falando sobre nossa percepção do tempo. Se nosso sentido do tempo era uma estrutura mental arcaica, herdada de nossos antepassados primitivos, quem sabe se Dick não dera o primeiro passo para desmontá-la?
Cleo debruçou-se sobre a mesa, com um halo de sol sobre os cabelos claros. Estava integrado ao grupo de crianças no carrossel, imóveis mas passando perpetuamente por mim. Eu praticamente nunca a tocara, consciente da distância que ela colocara entre nós, mas agora pus as mãos em seus ombros, abraçando-a na luz.
Mais tarde, Cleo ficou a me olhar enquanto eu me despia no quarto, com as mãos em minha testa, como se verificasse minha temperatura.
- Não queremos que você exploda. Acho bom termos vindo aqui para cima... Aqueles descansos de copos dão um pouco nos nervos. Como aquele filme aterrorizante que vocês dois fizeram.
- Coitado, ele estava tentando um milagre. Eu o vi montar o filme, movendo pedaços de imagens suas para a frente e para trás, tentando juntar um quebra-cabeça. Ele estava literalmente montando sua própria vida.
- Você vai remontar minha vida?
Beijei-lhe os pulsos fortes enquanto ela tentava afastar-se de mim.
- Claro que sim. Todas as discussões e discórdias serão apagadas da fita. Só vai aparecer o perfil esquerdo...
- Mas eu gosto de meu perfil direito... Tem mais integridade intelectual...
- ... os olhares lisonjeiros serão acentuados, com pausas respeitosas...
- Meu Deus, eu nunca paro de ser respeitosa...! - Cleo me ajudou com o zíper. - Isto faz parte da montagem?
- Claro que sim. - Desci o fecho até seu cóccix e deixei que o vestido caísse de seus ombros no chão. - Pense nisso do seguinte modo: na verdade eu estou vestindo você, mas o filme está sendo passado ao contrário.
- Então, a culpa é do operador? Se ao menos eu tivesse dito isso à minha mãe...
Cleo estendeu a mão e ajustou os espelhos laterais da penteadeira e depois abriu a porta do guarda-roupa, de modo que o longo espelho multiplicou nossos reflexos. Satisfeita, olhou-me de lado, para ver se eu aprovava.
- Sinto-me à vontade - comentei. - É como A Dama de Xangai.
- Que foi que eu fiz? Ela foi fuzilada!
Estávamos em pé, nus e cercados por nossas imagens, amantes que se haviam encontrado durante uma orgia numa câmara de espelhos. A nossa volta havia casais nus, imersos em si mesmos, meio escondidos atrás das portas. Éramos observados pelas objetivas de uma dúzia de câmaras, mutiplicados e desmontados ao mesmo tempo. Sustive os seios de Cleo nas mãos, tocando as veias azuis que circundavam os mamilos largos, e desfiz com carícias os sulcos rosados deixados pela armação de seu sutiã. Beijei uma pequena cicatriz em sua axila, resquício de uma infância que eu nunca conhecera, e corri os lábios por estrias argênteas, sementes do tempo espalhadas em seu abdome pela própria Ceres ao semear seus campos. Cleo ergueu meu membro nas mãos, massageando-o de leve entre as palmas, os dedos se arrastando em meu saco escrotal. Corredores fálicos retrocediam, um labirinto erótico num palácio impossível. Quando beijei os bicos dos seios de Cleo, um batalhão de amantes curvou as cabeças. Sentei-me na cama enquanto ela se ajoelhava no tapete entre meus joelhos, os antebraços apoiados em minhas coxas. Ela levou meu membro à boca, tocando a ponta da uretra com a língua, e depois o introduziu mais fundo entre os dentes, mordiscando de leve o músculo intumescido.
Puxei-a para perto de mim, beijando-lhe as coxas e os quadris. Com as mãos firmes, ela apertou meus ombros contra os travesseiros e ajoelhou-se sobre mim, deixando os cabelos longos caírem em meu peito. Deitei-me, satisfeito por compartilhar Cleo com os espelhos, mas ela se estendeu e fechou a porta do guarda-roupa com o calcanhar. A câmara de espelhos desapareceu, como uma sanfona de luz que se fechasse.
- Só eu e você, Jim... Acho que é tudo o que podemos fazer agora... Ela voltou aos travesseiros e deitou-se a meu lado, afastando os cabelos dos olhos, com os joelhos erguidos no ar enquanto eu lhe acariciava a vulva. Ingurgitados de sangue, os grandes lábios expandiam-se como barretes de bufão em torno do clitoris. Meus dedos separaram as cristas sarapintadas e umedeceram a protuberância rija. Alisei a almofada quente de seu ânus, repondo no lugar a macia elevação de uma pequena hemorróidas. Deitado a seu lado, masturbei-a com afeto. Um súbito fluxo encharcou o lençol, ela arquejou olhando para o teto e mordeu meu ombro, embaraçada. Descansou um pouco, ofegante, segurou-me pelos quadris e me puxou para cima dela.
Vigiados por um único espelho, amamo-nos durante toda a tarde. Mergulhando fundo dentro dela, eu tinha certeza de que aquele ato de sexo perduraria muito além daquelas horas de verão. O tempo se recusara a dobrar-se para Dick Sutherland, um Jano trancado dentro de sua própria auto-estima inabalável. Cleo tivera razão ao afastar aquelas telas prateadas. A cada mirada no espelho, uma pequena parte de nós morria. Imagens de nós próprios formavam as verdadeiras paredes de nossas vidas. A tirania da lente arrojava seus fragmentos contra nós, uma infinitude de identidades gravadas que excluía o mundo que ficava além dela. Apertei Cleo com força, tentando fundir o cheiro de seu corpo com minha pele. Um dia haveríamos de encontrar a chave do espelho, e entraríamos nele juntos.
No fim de setembro, Cleo telefonou-me de seu escritório para dizer que o documentário sobre a morte de Dick seria apresentado na televisão.
- Pensei que tivessem desistido daquilo - disse ela, parecendo nervosa. - Você vai assistir?
- Não. - Eu sabia que ela nunca aprovara o filme, suspeitando de que Dick me convidara a participar como um meio de ligar-me a ele para sempre. - Vamos nos lembrar de Dick como ele era vivo.
- Ótimo. É bem melhor assim. Vamos alugar um barco no fim de semana e ir até Henley. Faz meses que você não sai de Shepperton.
Isso era literalmente verdade. Cleo se dispusera, de bom grado, a saúde Londres nos fins de semana, cozinhar em minha cozinha de terceiro mundo e tomar gins duplos nos jardins dos pubs à beira-rio. Sentado com ela à margem da água, enquanto ela devorava seus sanduíches e atirava pedacinhos aos agressivos cisnes, eu me sentia mais feliz do que em qualquer momento nos últimos vinte anos. Sally tivera outra menina, saudável, e nos bombardeava de convites. Dois fatos, o surpreendente casamento de Peggy Gardner com um arquiteto que tinha idade para ser seu filho (a diferença, observou Cleo, era de quatorze anos, a idade de Peggy quando eu deixara o alojamento das crianças em Lunghua) e o órfão de Málaca que David e sua esposa belga tinham adotado, convenceram-me de que o passado tinha morrido de uma vez por todas.
Antes que pegássemos a lancha cabinada que tínhamos alugado, Cleo pediu ao operador da marina que retirasse o pequeno televisor da sala de estar. Depois de todo o gim que tomaríamos nos bares à beira-rio, estaríamos dormindo a sono solto quando o documentário fosse exibido. Ao transpormos a eclusa de Shepperton, com Cleo ao leme, fiquei a seu lado, com o braço em tomo dela.
- Cleo, nunca fizemos isso antes. Por quê?
- Realmente, por quê? Você tem sido um prisioneiro em Shepperton.
- Vamos parar em Cookham para ver se mudou.
- Em Cookham, não... E com certeza não mudou.
- Por que não? - Fiquei surpreso, pois sabia que ela admirava as pinturas visionárias de Spencer. - Você sempre gostou de Cookham.
- São anjos demais dançando nas árvores. Seja honesto: você realmente quer ouvir Cristo pregando novamente na regata?
- Então vamos almoçar em Runnymede. Podemos visitar o monumento a Kennedy.
- Você gosta daquilo? Vou pensar...
Aquelas zonas talismânicas perturbavam Cleo. Ela suspeitava do domínio que exerciam sobre mim, e por excelentes razões. Minha decisão de não assistir ao documentário sobre Dick lhe parecia um primeiro passo promissor em minha reabilitação, um retomo ao mundo concreto. Voltei o olhar para Shepperton, para os grandes olmos no parque, perto do
monumento aos mortos da guerra, para os estúdios de cinema e os hotéis à beira do rio, que se afastavam de mim como o Bund em Xangai.
- Jim! - Senti a mão de Geo a me apertar o braço. - Descanse, o lugar ainda estará lá quando você voltar.
- Eu sei. Vou pegar uma bebida para nós.
- Não preciso de uma bebida. Você sempre se comporta como se Shepperton só existisse graças a um ato de vontade de sua parte.
Ri e a abracei, quase fazendo a lancha bater na margem.
- Cleo, eu sonho com o lugar...
- E é um sonho maravilhoso. Alice, Henry e Lucy. Mas, de vez em quando, acorde.
- Vou acordar...
Duas horas depois atracamos em Runnymede e atravessamos a campina na direção das colinas que se elevavam entre os arvoredos. Num gesto sentimental, um primeiro-ministro inglês doara meio hectare de solo aos Estados Unidos, e lá estava o monólito de calcário do monumento a John F. Kennedy, a cavaleiro do local da assinatura da Magna Carta. Durante a guerra do Vietnam, o monumento havia sido freqüentemente depredado e pichado, e de certa fora rachado por uma bomba.
De braços dados, subimos pelo caminho na direção do monumento. A brecha no calcário fora cimentada havia pouco tempo. Pichaçôes antigas tinham deixado suas marcas no rosto de Kennedy, e a elas se superpunham palavras de ordem e suásticas, pintadas com tinta fosfores-cente. Por toda parte havia lixo e latas de cerveja; os restos de uma refeição, embrulhados em papel de alumínio, tinham sido enfiados sob o monumento. A menos de cinco metros dele, um homem de meia-idade e cabelos claros e grisalhos copulava com uma moça de vinte anos, em parte ocultos por um pé de magnolia. Com as calças soltas na cintura, ele havia se colocado entre as pernas erguidas da mulher, e se movimentava em espasmos apressados, como se a presença daquele monumento mórbido o instasse a terminar logo.
Cleo baixou os olhos e franziu a testa ao ver o lixo.
- Será que ninguém limpa esse lugar? Acha que Kennedy está completamente esquecido?
- Acho que sim... E de certa maneira, é até bom.
Pensei no papel que o assassinato de Kennedy havia representado em minha própria vida, e no quanto suas imagens televisadas tinham plasmado a imaginação dos anos 60. Na época, fotogramas do filme de Zapruder tinham parecido mais pungentes do que uma crucifixão de Grunewald. Agora, só restavam as pichações, como os excrementos de aves sobre as estátuas de generais e estadistas vitorianos nas praças de Londres.
Descemos para o portão e atravessamos o prado até a área de estacionamento, ao lado do atracadouro. Grupos de pessoas, encostadas em seus carros, viam uma família tirar um barco a motor do rio. O pai e a filha adolescente manobravam um reboque de duas rodas, fazendo-o descer uma rampa. Depois de terem submergido o reboque na água rasa, o pai soltou a amarra do barco e conduziu-o para o berço de metal. Na rampa, sua mulher estava sentada no carro, esperando para puxar o reboque de dentro da água. No banco traseiro estava uma filha mais nova, chupando um sorvete e absorta numa revista em quadrinhos.
A corrente forçava o barco, tentando puxá-lo para o meio do rio. O pai lutava com o berço de metal enquanto a mulher acelerava o carro, observando-o pelo retrovisor. Quando um homem fez um sinal, ela engatou a primeira e começou a subir a rampa com muito barulho e fumaça de descarga. A corda retesou-se e o reboque moveu-se para a frente. Os pneus começaram a sair da água. Entretanto, o barco tinha flutuado e saíra de cima do reboque. O homem gritou para a mulher, que desligou o motor. No banco de trás, desatenta a tudo isso, a menina lia sua revistinha, lembrando-se de vez em quando de lamber o sorvete.
Um rapaz, de calção de banho, desceu a rampa e ajudou o homem a repor o barco em cima do reboque. A mulher deixou o carro descer um pouco a rampa, o que distendeu a corda. No momento em que Geo e eu entramos em nossa lancha, eles estavam prendendo o barco ao reboque. A mulher voltou a ligar o motor, mas soltou o freio de mão antes de passar a marcha e o carro começou a descer a rampa de ré. Todos se puseram a gritar, preocupados, e o vigia do estacionamento saiu de sua guarita para ir reclamar da motorista.
- O que está havendo? - perguntou Cleo, enquanto eu me preparava para dar partida. - O carro vai cair no rio?
- Está começando a parecer que sim...
As rodas traseiras do carro tinham sumido sob a água. Nervosa com o vigia do estacionamento e os gritos dos espectadores, a mulher perdera o controle do veículo. No banco de trás, a menina soltou um grito e levantou os pés, para tirá-los da água que já cobria o chão. A mãe abriu a porta, deixando que o marido, impaciente, assumisse a direção. Mas no momento em que ela saiu para a beirada do rio, ouviu-se um grito do rapaz de calção.
O barco fora arrastado para a parte mais funda do rio, e agora arrastava consigo o reboque e puxava o carro ainda mais rampa abaixo. Várias pessoas estavam saindo de seus veículos estacionados, com copos de chá esquecidos nas mãos. Dois homens entraram no rio e agarraram as colunas das portas do carro, tentando impedir que a corrente o arrastasse.
- Cleo, espere aqui!
Ao cair na água, vi que a criança, branca como cera, gritava no banco traseiro, pois a água já lhe chegava às axilas. Procurando alcançá-la, a mãe afundou no rio e o vestido de algodão lhe cobriu o rosto. O marido pegou-a pelos braços e a puxou para a rampa. Já exausto, ele mergulhou no rio, tentando soltar a corda presa ao reboque.
Agarrei a coluna da porta esquerda, tentando chegar à menina, que segurava o sorvete acima da cabeça. A água já lhe cobria os ombros e ela gritava para a mãe, cercada por lenços de papel e latas de aerossol, mapas rodoviários e tocos de cigarros que haviam saído dos cinzeiros e do porta-luvas. Antes que eu pudesse chegar aonde estava a menina, o carro começou a virar de lado, arrastado pelo barco. Todos gritaram ao ver as águas cobrirem a capota, com uma espiral branca de sorvete flutuando na superfície. Perdendo o equilíbrio, dei comigo a nadar ao lado do pai, que lutava para chegar ao barco. Ele soltou as presilhas metálicas no berço do reboque; a embarcação se soltou e foi para o meio da corrente, abalroando uma lancha cabinada, cuja tripulação ficou a olhar para nós, segurando copos de vinho.
Tomando pé, empurramos o carro para a rampa de pedra. O pai abriu a porta, deixando sair a água, mas descobriu que o banco de trás estava vazio. Mergulhou ao lado da margem, batendo as mãos na água, na tentativa de localizar a filha, mas o vigia do estacionamento já a encontrara jogada no chão do carro, ao lado do volante.
Cleo juntou-se a mim no momento em que a deitaram na grama molhada.
- Deus do céu... Você tem noções de primeiros socorros?
- Não, mas acho que... - A água fria escorria por meu peito e minhas pernas. O rapaz do estacionamento levantou a menina, mas seu corpo pendeu de suas mãos como um coelho morto, com os olhos vidrados e os braços azuis caídos na grama. Soluçando, a mãe alisou os cabelos da garota, e o rapaz pôs-se a movimentar seus braços, ritmadamente, sobre o peito. Logo se cansou e encostou a cabeça em seu rosto sem cor, tentando detectar sua respiração. Depois recomeçou os movimentos para a frente e para trás, como se exercitasse uma boneca.
Atordoada pelo inesperado da tragédia, Cleo chorava com o rosto enfiado nas mãos. Segurei sua cabeça em meu ombro. Tentando não olhar para a menina, olhei para a estrada de Windsor, na esperança de ver uma ambulância. Passou um ônibus cheio de turistas do Oriente Médio, e só tarde demais ocorreu-me que naquele grupo deveria haver pelo menos um médico.
A quinze metros de distância, um homem alto, calçado com botas de andarilho, vinha em nossa direção a passos largos. Carregava uma mochila volumosa nos ombros, e seus joelhos nus batiam no mato alto. Entre a barba hirsuta e os cabelos que lhe caíam sobre a testa havia um rosto comprido com olhos avermelhados, como se ele tivesse passado grande parte de seu dia de folga lendo dentro de uma barraca escura. Do bolso de sua camisa se projetava um guia turístico de Eton e Windsor, e ele parecia mais interessado em encontrar o sítio histórico de Runnymede do que na tragédia ocorrida na margem do rio.
Ao se aproximar de nós, ele avistou a menina. Antes que alguém dissesse uma palavra, atirou a mochila no chão, pediu a um casal de meia-idade que a vigiasse e avançou através do círculo de curiosos. Não deu atenção à mãe, que soluçava, nem ao rapaz exausto e se ajoelhou na grama, segurando os braços da criança inerte.
Seus dedos ossudos movimentavam-se como os de um prestidigita-dor sobre a criança. Levantou-lhe os ombros, deixando sua cabeça cair para trás, abriu-lhe a boca com o polegar e, com um hábil movimento do indicador, retirou alguma coisa que obstruía o fundo da garganta. Com uma das mãos ele sustentava as costelas, e com a outra comprimia o diafragma. Instantaneamente, saiu um jato de água da boca da menina. Afastando com cuidado a barba, ele se abaixou e aplicou os lábios sobre a boca e o nariz da criança. Começou a soprar lentamente, mas com energia, parando de vez em quando para comprimir o esterno. O grupo de cerca de trinta pessoas mantinha silêncio em torno dele.
- Ela está respirando... Ah, meu Deus. - As unhas de Cleo haviam rasgado minha camisa. A menina tossiu. Deu um soluço e pôs para fora a água dos pulmões e da traquéia. O homem barbudo contemplou-a serenamente com os olhos injetados, depois a sentou com as mãos fortes e regularizou sua respiração. A menina arquejou, e seus olhos se focalizaram no círculo de pessoas a seu redor. Encostou-se na mãe angustiada, tossiu de novo e esfregou o nariz, sugando grandes haustos de ar sobre a língua inchada.
Dois carros tinham dado marcha à ré até a beirada da rampa, e os motoristas discutiam qual seria o caminho mais rápido para o hospital de Windsor. Com a água escorrendo do vestido, a mãe carregou a criança para o mais próximo dos carros. Cleo sorriu para mim, apesar das lágrimas que lhe desfaziam a maquilagem. Todos acompanharam a criança, mas eu estava olhando para o homem barbudo que a salvara. Ele se certificou que a criança respirava direito no carro, e depois saiu pelo meio das pessoas e recuperou a mochila, agradecendo ao casal, que a colocara sobre uma mesinha de jogo. Antes que o comboio deixasse o estacionamento, eleja retomara sua caminhada pela margem do rio.
Uma hora depois passamos por ele, que seguia na direção de Windsor. Pensei em lhe agradecer, o que ninguém tinha feito, mas não achei as palavras adequadas. Levei a lancha para perto da margem e reduzi a velocidade, de modo a podermos acompanhá-lo. Ele caminhava com suas botas pesadas, verificando alguma coisa no mapa. Na camisa quadriculada, vi a mancha seca do sorvete expelido do estômago da menina. Imaginei que ele fosse um professor ou funcionário público, mas sabia que poderia ser também, perfeitamente, um comissário de navio ou um paciente psiquiátrico não internado. A pesada mochila machucava-lhe as costas, mas ele parecia não ligar para seu peso. Preso na mochila, secava um par de meias que eu não tinha visto antes. Decerto ele as lavara no rio depois de salvar a menina.
Cleo acenou para o homem, que respondeu com um sorriso amistoso, mas rápido. Apressou o passo e se afastou de nós. Estava fazendo o que gostava em seu dia de folga e preferia estar sozinho. O mundo concreto de Cleo, os joelhos nus, a mancha de sorvete e as meias molhadas passaram pela lancha e pelos cisnes meio adormecidos. Eu havia pensado em lhe perguntar quem ele era, mas percebi que, para todos os efeitos práticos, eu já sabia.
Os convidados chegavam mascarados, para uma festa muito especial. Centenas de veículos se enfileiravam na tranqüila rua de Buckinghamshire e, procurando uma vaga para estacionar, fui ultrapassado pelo caminhão do estúdio, que levava duas Marie Antoinettes, um chefe de piratas e um trio de senadores romanos. O ruge e o batom lhes emprestavam um ar de vítimas da peste a caminho de um hospital.
Como todos os sonhos, a Xangai com que eu havia sonhado se materializara no lugar onde menos se poderia esperar - entre as imponentes mansões construídas em torno do campo de golfe de Sunningdale, a pouco mais de quinze minutos de carro de Shepperton. Durante trinta anos eu vivera perto dos estúdios, mas nunca entrara num set de filmagem, nem estava preparado para a escala de uma grande produção de Hollywood. Um gênio de Aladim saltara das páginas de meu romance e estava ocupado em evocar o passado, trabalhando com um descomedimento em nada inferior à da verdadeira Xangai.
A cidade relembrada, cujas ruas eu tinha redesenhado dentro dos limites da página impressa, materializara-se numa fusão do real e do surreal. A memória fora suplantada por uma nova tecnologia de reconstituição histórica que permitia ao passado, presente e futuro serem desmontados e rearrumados segundo o capricho do produtor.
Ao sair de Shepperton às sete da manhã, eu esperava encontrar uma pequena equipe de filmagem na mansão de Sunningdale. Alugada pela empresa cinematográfica, a casa representaria o lar de minha infância na avenida Amherst. Grande parte do filme já fora rodada em Xangai, onde as margens do rio e os hotéis do Bund permaneciam intocados desde a tomada da cidade pelos comunistas em 1949. No entanto, as casas da avenida Amherst achavam-se semidestruídas, transformadas em cortiços ocupados por famílias chinesas e escritórios. O número 31 da avenida Amherst abrigava agora a Agência de Importação e Exportação de Produtos Eletrônicos Nova China. A entrada da garagem estava coberta de mato, os caixilhos podres das janelas eram sustentados por andaimes de bambu e a piscina ganhara um telhado para servir de depósito à prova de umidade.
Por felicidade, uma réplica razoável da avenida Amherst estava disponível do outro lado do mundo, a poucos quilômetros dos estúdios de Shepperton. Aquelas belas mansões, de muitas empenas, construídas nos anos 30 ao lado do campo de golfe, tinham servido de modelos para as casas que emigrados ingleses, como meus pais, haviam construído nos subúrbios de Xangai - casas cujos exteriores Tudor não passavam de fachadas, escondendo banheiros e cozinhas americanas, refrigeradas.
Havia alguma coisa de esquisito na idéia de que a residência de uma pessoa que era quase vizinha pudesse servir de maneira tão plausível para representar a casa de minha infância, como se aquelas cidadezinhas do vale do Tâmisa fizessem parte da Grande Xangai. Seguindo o caminhão do estúdio, que levava o grupo de figurantes mascarados, olhei para as tão conhecidas janelas de mainéis e me dei conta de quão arguto tinha sido o diretor de arte. A partir de elementos muito mais próximos a mim do que eu poderia acreditar, ele recriara convincentemente a cidade exótica que eu recordava.
Em vez da pequena equipe de locação que eu esperara, toda uma frota de veículos ocupara aquele plácido recanto de Sunningdale. À primeira vista a cena lembrava a evacuação de Londres - havia dezenas de reboques nas campos em volta, imensas barracas estendiam suas lonas sobre quilômetros de plataformas de madeira; ônibus de dois andares, caminhões-restaurantes e reboques-banheiros estavam estacionados em fileiras; geradores roncavam no ar frio da manhã, mandando energia, através de um emaranhado de cabos, ao set de filmagem, situado a trezentos metros de distância. Uma força policial particular controlava o trânsito, e um serviço de microônibus buscava atores e técnicos nos reboques e caminhões de maquilagem.
Como vim a descobrir, o estúdio alugara não uma, mas quatro mansões, cada uma das quais contribuía com um segmento da casa de minha infância - uma fornecia uma piscina seca, outra os salões de recepção e o relvado onde se realizaria o baile à fantasia na véspera de Pearl Harbor, enquanto a terceira e a quarta proporcionariam a cozinha, a sala de jantar e meu quarto. Mais tarde, caminhando por ali, olhei pelas janelas das mansões em torno do campo de golfe e tentei adivinhar quais outros segmentos de minha infância estariam ocultos entre as mesas de bridge e as salas de bilhar.
Estacionei o carro junto de uma quadra de tênis requisitada e observei um grupo de trabalhadores que descarregavam adereços da década de 30 - biombos chineses, lâmpadas art déco, tapetes de pele de tigre e telefones brancos. Todos aqueles técnicos, pensei, desde o barbeiro, que cortara meu cabelo à moda da época, até os carpinteiros, os especialistas em iluminação e os figurinistas, estavam construindo uma realidade mais convincente do que o original que eu conhecera em criança.
O relógio de minha vida descrevera um ciclo completo, através de muitíssimas maneiras inesperadas. Num gesto amável, o diretor me convidara a fazer o papel de um convidado na festa à fantasia. Agradecido, eu aceitara a proposta com todo o nervosismo de um passageiro de avião que se apresentasse como voluntário para saltar de pára-quedas. Uma benigna conspiração já estava em movimento. Muitos de meus vizinhos, que durante anos haviam feito bicos como extras, tinham sido contratados para representar internos no campo de Lunghua. Na tarde anterior, ao saúda adega de vinhos da rua principal de Shepperton, eu fora cumprimentado pela mãe de uma menina que estudara na mesma escola de Lucy e Alice.
- Jim, acabei de saber. Estamos no campo juntos! Tim Bolton e os Staceys vão estar lá...
Também sua filha, agora com 25 anos, faria o papel de uma prisioneira de Lunghua. Eu tinha a impressão de estar sonhando, e que minha mente sonolenta estava recrutando vizinhos de Shepperton para a ficção do sonho. Voltando a pé para casa, eu pensava: por que motivo, afinal, eu tinha ido morar em Shepperton? Trinta anos antes, Miriam e eu tínhamos escolhido a cidade ao acaso, mas talvez já então eu soubesse que um dia escreveria um romance sobre Xangai e que ele poderia ser filmado naqueles estúdios, tendo meus próprios vizinhos como extras e usando também as mansões próximas, que haviam inspirado as casas da avenida
Amherst. Desígnios profundos percorriam nossas vidas; não existiam coincidências.
- Jim, você veio! - Uma das produtoras americanas acenou para mim, do outro lado da massa de eletricistas e iluminadores que entravam e saíam da casa. Segurou meu braço, como se temesse que eu ficasse nervoso e fugisse. - Não tínhamos certeza de que você iria aparecer.
- Como haveria de perder isto? Mas não me importo de dizer, Kathy, que acho bastante esquisito...
- Tenho certeza disso. Foi bom você ter resolvido a não ir a Xangai conosco. Que tal lhe parece a casa?
- Sobrenatural. - Pombas brancas que tinham sido soltas durante a filmagem da festa das crianças, na véspera, ainda bicavam no gramado, e um agente de segurança as espantou para o telhado. - Eu devia ter comprado esta casa há trinta anos.
- Se tivesse feito isso, você não teria sobre o que escrever. E nós não estaríamos aqui... Vamos rodar a cena da festa dentro de uma hora, de modo que é melhor você se vestir. O figurinista está à sua espera lá em cima.
- Preciso de um disfarce...
Enquanto conversávamos, percebi que uma equipe de três homens gravava nosso diálogo para um documentário sobre a produção, um filme dentro de um filme que transcorria no corredor de espelhos. Essa sensação de ilusões presas em ilusões persistiu quando entrei no grande quarto de dormir no primeiro andar. Ali, os atores principais se vestiam. Era um grupo alegre, que reconheci de dezenas de filmes e séries de televisão. Seus rostos pareciam curiosamente diferentes, mas depois de maquilados tornaram-se mais reais. Em contraste, senti-me como um impostor em meu traje de John Buli, de casaca vermelha, cartola e colete com o desenho da bandeira inglesa.
Mais tarde, na longa sala de visitas que dava para o jardim, vi-me com os demais convidados numa réplica perfeita da casa da avenida Amherst. Na mesa a meu lado havia exemplares de Tune e Life de dezembro de 1941, uma semana antes do ataque japonês a Pearl Harbor, e tive a sensação de que o telefone branco ia tocar, avisando que partiríamos no próximo vapor para Cingapura.
De pé com um copo de uísque na mão, eu tinha a sensação curiosa de ser um dos intrusos que, vez por outra, entravam como penetras nas festas de meus pais - agentes do Eixo que posavam de corretores imobiliários, jogadores profissionais de bridge que também atuavam no tráfico de morfina, ex-bailarinas de boates em busca da caixa de jóias de minha mãe -, gente que o Moço e o Moço Número Dois conduziam com firmeza até a porta. Esperei que meus pais surgissem e me pedissem para ir embora, não me reconhecendo naquele traje absurdo.
- Olá... - Diante de mim estava um simpático menino de doze anos, de rosto fino e olhos maduros, usando chinelas turcas e calças e colete pintalgados. Apresentou-se com toda segurança.
- Eu sou o senhor...
Estendeu a mão e pude perceber que ele duvidava de que aquela figura obesa um dia pudesse ter sido parecida com ele.
- ...e nós somos seu papai e sua mamãe!
Um casal atraente de trinta e poucos anos, ele numa roupa de pirata, ela fantasiada de camponesa, saudaram-me alegremente. Enquanto conversávamos, os refletores possantes fizeram a sala fulgir. O sonho estava para se tornar real. Os operadores de câmara estavam prontos para uma tomada panorâmica da festa. Depois de trocarem comentários sobre a ameaça de guerra, os convidados se despediriam e atravessariam o corredor na direção do gramado, onde uma segunda câmara registraria nossa partida.
O diretor aproximou-se de mim com um comentário cordial.
- Tudo bem, Jim?-Fez um gesto encorajador. - Relaxe... Fique com uma das mãos no quadril. Você dá a impressão de que sabe segurar um copo de uísque.
- Tenho uma certa prática... Mas só isso.
- Que tal uma figuração com fala? Você pode criar uma linha neste exato momento.
Olhei para ele, incapaz até de pronunciar meu nome. O diretor me deu um tapinha nas costas e voltou para o monitor. Todos fizeram silêncio, e a câmara começou a girar. Senti-me entrar em transe, tentando imaginar essa linha de diálogo que faltava em minha vida anterior, uma linha que eu passara toda a carreira tentando definir.
Seguidos pela câmara, saímos para o corredor. A entrada da casa estava muito iluminada, e as luzes se refletiam nas capotas polidas dos automóveis em que entraríamos. No caminho de cascalho havia um Buick dos anos 30, o Packard de capota alta de meus pais, um Chrysler preto de gangster, com estribos e pneus faixa branca, e um Lincoln Zephyr conversível 1940. Ao lado deles esperavam os motoristas chineses em uniformes da época, sobraçando seus bonés ao abrirem as portas traseiras para os convidados que saíam.
Contemplando a cena, tentei fixar os olhos na câmara e na multidão do outro lado dos portões. Entrei no Packard pela porta traseira, lembrando-me a tempo de tirar a cartola. O ator que fazia o papel de meu chofer fechou a porta e ocupou seu lugar atrás do volante. Enquanto os carros se moviam entre os convidados, senti estar sendo transportado daquela calma rua de Buckinghamshire, atravessando outro mundo e outro tempo, para a Xangai de meio século antes, na direção das luzes do Bund e dos magazines da rua Nanquim, atravessando a Concessão Francesa rumo ao terminal de bondes da avenida Joffre, para as guaritas protegidas por arame farpado que levavam aos subúrbios da zona oeste e à casa de empenas onde um menino inglês brincava com seus brinquedos alemães, surpreso com as pombas brancas que tinham procurado abrigo sobre seu teto.
As comissárias de bordo retiraram as últimas bebidas antes de aterrissarmos, movendo-se agilmente entre os detritos acumulados desde nossa partida de Londres, doze horas antes. Sentado ao lado de Cleo na primeira fila do avião, com a carlinga do 747 muito acima de nós, olhei sobre seus ombros os subúrbios do nordeste de Los Angeles. Imensas auto-estradas cheias de carros estendiam-se pela paisagem ensolarada, coberta por uma névoa amarela, como se a areia tivesse começado a se evaporar no deserto.
- Piscinas... - Cleo apontou para baixo. - Milhares de piscinas. Quando as chuvas acabarem, essa gente vai sobreviver. Como está?
- Bem. Vou me recuperar. É como se eu tivesse tomado muitas anfetaminas.
- E tomou. Não se preocupe, você vai pousar daqui a uns três dias, quando tudo tiver terminado.
- Espero que sim. É viajar muito para ir ao cinema.
- Mas que filme! - Na verdade, nenhum de nós assistira ao filme. - É uma pena que você esteja fantasiado... Ninguém vai reconhecê-lo.
- Bem, não é um papel de destaque.
- Bobagem... É pequeno, mas crucial.
- Cleo, é bem possível que eles tenham eliminado esse pedaço inteiramente.
- Claro que não fizeram isso! Como? - Cleo se exasperou, indignada ante a simples idéia. - Você é a única pessoa que realmente estava...
- Não tenho certeza de que isso seja verdade... Acho que os atores achavam que eu era o deslocado, a única pessoa que não era real. A maioria deles tinha ido a Xangai.
- Você poderia ter ido com eles.
- Eu sei, mas não tive coragem. Não estava disposto a encarar tudo de novo... Passei a vida inteira tentando compreender direito as coisas. Esta é a maneira certa de voltar a Xangai, dentro de um filme. Em certo sentido, eles começaram a rodá-lo há cinqüenta anos...
A estréia mundial seria dentro de três dias, num cinema de Westwood. Depois de atar o cinto de segurança, esperei o avião dar a volta sobre o mar e fazer a aproximação do aeroporto sobre as ondas mansas. Apesar da longa viagem e do que tinha dito a Cleo, eu me sentia muito à vontade. Olhei para as praias desertas, com suas palmeiras isoladas na beira do Pacífico, aquele oceano que eu avistara pela última vez em 1946. Eu nunca estivera em Los Angeles, mas parecia apropriado que minha infância encontrasse seu fim naquela cidade do deserto, cuja imaginação ilimitada havia remitologizado o passado e inventado o futuro.
Uma hora depois seguíamos pela estrada de San Diego no carro do estúdio, contemplando a paisagem de Los Angeles, que nenhum de nós vira antes, mas que era instantaneamente familiar. Milhares de filmes e seriados de tevê haviam instilado uma réplica perfeita da cidade em nosso espírito, muito mais precisa que o absurdo beefeater [2] e a imagem nacarada da rainha transmitida pelo departamento britânico de turismo. Bangalôs meio espalhafatosos e lojas estendiam-se por quilômetros sob o emaranhado de fios aéreos, uma paisagem de monótona uniformidade e de cola pintada que desbotava ao sol, como se toda a cidade fosse um poeirento cenário de cinema à espera de ser reaproveitado numa produção ainda por ser financiada. Adorei cada pedacinho daquilo e me senti imediatamente à vontade.
Pouco depois, ao deixarmos a estrada e entrarmos no Santa Monica Boulevard, vi a primeira anomalia, uma intrusão aberrante vinda de outro nível de realidade. Havia, na beira da estrada, um cartaz do tamanho de uma quadra de tênis, anunciando o filme que viéramos ver, e meu próprio nome estava entre os dos produtores e do diretor. Por um instante o sono despertara e convocara o sonhador.
Cartazes idênticos apareciam sobre os terraços dos edifícios de Los Angeles e até em Sunset Boulevard, onde outro escritor, Joe Gillis, havia se enredado no sonho de Hollywood. Quando liguei o televisor no hotel, anúncios do filme encheram a tela, com Mustangs em vôo rasante, a verdadeira Xangai se incendiando de novo, enquanto soldados japoneses marchavam pelo Bund e um menino inglês era levado de roldão num pânico de cules e escriturados. De braços dados, Cleo e eu olhamos de nossa sacada o outdoor sobre Wilshire Boulevard. Meu passado fugira de minha cabeça e estava saltando de um telhado para outro como uma infeliz criatura num filme de monstro dos anos 40.
Alegre, Cleo não deixou de perceber a ironia da situação.
- Como foi que Simbad meteu o gênio de volta na garrafa? Pense.
- Só Deus sabe... Imagino que com algum golpe baixo.
- Você passou anos escrevendo sobre os meios de comunicação, mas agora eles ganharam liberdade e estão fazendo de você gato e sapato.
- Vou alugar um carro amanhã. Vamos descobrir a verdadeira Los Angeles.
- Querido, acorde. Esta é a verdadeira Los Angeles.
Na manhã seguinte partimos para uma excursão por aquela cidade misteriosa. Bairros inteiros pareciam fragmentos intactos de episódios de seriados de tevê, de uma familiaridade tão estranha quanto a das ruas da infância a que uma pessoa volta. Longe de ser a mais jovem, Los Angeles era a cidade mais antiga do século XX, a Tróia da imaginação coletiva de nossa época. Os alicerces de nossos sonhos mais profundos se perdiam em seu passado, entre os postos de gasolina e as auto-estradas.
Na véspera da estréia, enquanto Cleo visitava amigos ingleses em Santa Barbara, ligaram da recepção do hotel para dizer que uma Sra. Weinstock estava à minha procura. Julgando tratar-se de uma jornalista, autorizei que ela subisse à nossa suíte. Momentos depois, ao abrir a porta, dei com uma bela americana de sessenta e poucos anos, com um casaco de carneiro persa e um chapéu de seda. Seus olhos penetrantes assumiram instantaneamente uma expressão desafiadora, quando ela percebeu que eu não a reconhecia.
- James, será que ficou importante demais para se lembrar de mim? - A mulher deu um passo à frente, envolta numa aura inebriante de perfume e tecidos caros. Segurou-me pelos ombros e apertou meu rosto contra sua face. - Olga! Olga Ulianova, de Xangai!
- Olga...? - Fui empurrado contra a tela do televisor por minha ama da infância, que parecia ter caído do céu de Hollywood, onde pertencia à mesma ordem de coisas que os cartazes e os comerciais de tevê. - Olga... Não consigo acreditar...
- Pois é melhor começar a acreditar. - Passou os olhos pela suíte, captando cada pormenor dos livros sobre a mesa, das roupas de Cleo penduradas, das malas abertas e das fotografias. Ao me olhar de cima a baixo, decidindo que não eram necessários mais que alguns segundos de inspeção, tentei recordar a moça nervosa que eu tinha visto pela última vez na boate Del Monte. Apesar dos muitos anos transcorridos, seus traços quase não haviam mudado, os lábios eram mordazes como sempre, os olhos desassossegados faziam um levantamento das roupas... autoconfiança, integração no mundo real. Mas havia em seu rosto uma máscara curiosa, como se as faces, o nariz e o queixo de uma criança tivessem sido pendurados em suas têmporas, e nessa máscara se destacassem os olhos penetrantes e os dentes afiados de uma velha.
- Você não mudou, James. Nem um pouquinho. Ainda está montado em sua bicicleta. - Sorriu, pendurando o casaco no encosto de uma cadeira. - Mas, e agora? Lembra-se de mim?
- Olga... Lembro... É que ainda estou atônito. Foi o estúdio que providenciou esse encontro?
- O estúdio? Nem tudo é cinema, James. Minha filha e eu estamos passando uns dias com amigos em Van Nuys. Aí eu pensei: vou ver como meu James está.
- Que bom que você pensou nisso. Mas você saiu de Xangai?
- Evidentemente. Assim que os americanos foram embora. Ouça uma coisa, James, eu não fui feita para o comunismo. Faz muitos anos que moro em San Francisco...
- E se casou...?
- Eu sou a Sra. Edward R. Weinstock... Meu marido é cirurgião de nariz e garganta, muito influente. - Olga sacudiu a cabeça, examinando sem muito entusiasmo uma foto que me mostrava ao lado de Cleo. - Mas você também quase virou médico, não foi? Eu li uma entrevista... Não compreendi...
- Desisti depois de uns dois anos... Queria ser escritor.
- Escritor? - Suas narinas se contraíram num ar de dúvida, como se apenas o luxo daquela suíte de hotel em Beverly Hills a impedisse de criticar tão desastrosa opção profissional. Olga usava um vestido caro, de lamê brilhante, que não ficaria mal na inauguração de um cassino em Las Vegas, mas, enquanto ela se mexia de um lado para outro sobre os sapatos de salto agulha, dei comigo a olhar debaixo de seus braços, em busca de um rasgão revelador. Lembrei-me do vislumbre de seu seio, que fizera delirar minha mente de adolescente. Apesar do penteado bem-cuidado e das jóias caras, havia ainda em Olga algo de devasso, como se seu corpo fosse um instrumento descartável a ser empregado com fins utilitários. Lembrei-me dela em Xangai depois da guerra, encharcada de vodca, à espreita de soldados americanos inexperientes.
- E esse filme, James? É bom?
- Tenho certeza de que é. Dizem que é o melhor dele. Ainda não vi.
- Não viu? - Tratava-se, evidentemente, de uma grave omissão, que eu deveria ter reparado antes de assinar o contrato para o filme ou, ainda mais sensatamente, antes de escrever a primeira linha do livro. Olga balançou a cabeça, como se eu fosse ainda o garotinho esquisito que percorria toda Xangai de bicicleta, procurando uma guerra. - Seja como for, é uma excelente ajuda para sua carreira. Você sempre gostou de contar histórias. A pobre de sua mãe não sabia o que viria a seguir...
- Este foi o único livro que escrevi sobre Xangai... Por algum motivo, levou muito tempo.
- São coisas demais para se esquecer, as pessoas não percebem-As coisas que eu poderia contar sobre Xangai. Você e eu devíamos escrever um livro, James, seria um verdadeiro bestseller. Minhas idéias e seu...
- Basta um, Olga. Talvez eu escreva uma continuação, sobre minha vida na Inglaterra.
- Inglaterra?-Com ar de dúvida, Olga cheirou seu uísque.-Será tão interessante assim? Li sobre sua mulher... Foi uma pena para você.
- Isso foi há muito tempo. Vou levá-la para almoçar, Olga. Você poderá me contar tudo o que aconteceu.
- Ouça uma coisa: o tempo que passa nunca é demais. Quando minha mãe se foi...-Como se lembrasse de outra coisa, ela acrescentou: - Meu segundo marido morreu. Era um dentista inglês de Hong Kong, ao que eu saiba.
Enquanto nos dirigíamos para o restaurante no terraço, ela segurou meu braço, numa demonstração sincera de afeto, evocado quase inteiramente por seus sentimentos de autocomiseração. Diante das atenções que recebeu no restaurante, em pouco tempo ela estava esfuziante como uma adolescente, exibindo o rosto liso e o nariz operado. Diante de mim estava uma mulher envelhecida, embora glamourosa, mas a jovem Olga de que eu me lembrava, cujo corpo eu tentava entrever quando ela se despia no banheiro, parecia acenar de uma distância de décadas. Ela falava, quase sem pausas, sobre os anos que passara em Hong Kong e Manila, batalhando para chegar ao topo da montanha social, enquanto maridos morriam debaixo dela como montarias sob um cavalariano em Austerlitz. Quando voltamos para a suíte, ela disse:
- James, seu livro despertou muito interesse em San Francisco. Muita gente de Xangai mora lá. Por que não faz uma palestra para nós? Você poderia dizer que eu era uma amiga da família. Talvez do corpo diplomático...
- Eu gostaria muito, Olga, mas até escrever sobre Xangai já foi difícil.
- Claro. Eu sei o que você sente. Nós sempre fomos muito ligados, James. Você nunca contou à sua mãe que eu pegava coisas... as peças de prata e os cavalos de jade... Eu sempre quis lhe agradecer por isso.
- Eu nunca soube, Olga.
- Talvez tenha se esquecido. Eles tinham tanto, e meus pais passavam fome todos os dias. Sentado naquele quartinho, meu pai perdeu toda a esperança. Foi uma sorte ele ter morrido antes que começasse a guerra. Minha mãe me perdoou... As mulheres compreendem... mas um pai? Nunca...
Olga segurou meu braço, e o perfume de seus cabelos, do pescoço e dos seios era opressivo. Ficou a meu lado, olhando para as mansões de Beverly Hills, como se contemplasse as desaparecidas fachadas da avenida Amherst. Lembrei-me de que, quarenta anos antes, seu quadril forte se comprimira contra o meu no salão de baile, cheio de cacos de vidro, da boate Del Monte. Durante os dias tristes na escola inglesa, eu pensara muitas vezes em Olga. Teríamos feito amor em cima de uma das mesas de roleta se ela não tivesse me intimidado tanto, e principalmente se eu lhe tivesse facilitado o acesso ao escritório de meu pai.
Abracei aquela exótica quimera, cujo rosto passara por uma plástica, o resgate de seu sonho. Seu corpo era ainda mais velho que o meu, mas seu rosto era o mesmo daquela adolescente russa-branca que tinha sido a primeira a cuidar de mim.
Olga sorriu, talvez por lembrar uma brincadeira de criança no jardim na avenida Amherst.
- E sua amiga, James? - Desafrouxou minha gravata e me abriu a camisa. Correu os dedos por meu peito, certificando-se de que os mamilos ainda estavam no lugar. - Ela vai voltar logo?
- Só amanhã... Foi visitar um pessoal que trabalha em editoras, conhecidos dela, em Santa Barbara. Olga, isto não tem nada a ver com ela.
- Editoras? Então está bem... - Ela ergueu o rosto diante de mim, uma telinha na qual se projetava a imagem de uma jovem.
Por que ela teria me procurado? Talvez por vaidade e para me lembrar que ainda podia dominar minha vida. Decerto, não se sentiria em dívida por roubar de meus pais antes da guerra. Mas Olga sabia que éramos ambos, cada um à sua maneira, vítimas do domínio ocidental em Xangai, um domínio para ela representado por meus pais. Tínhamos sido feridos e corrompidos por Xangai, na medida em que crianças podiam ser corrompidas, e fazendo amor naquele hotel da Califórnia provaríamos um para o outro que as feridas tinham cicatrizado.
- Muito bem... Você sabe, James, eu nunca esperei muito tempo por um homem. Isso poderia ser um mau exemplo para mim...
Olga me segurou pelos pulsos com a mesma firmeza que usara, meio século antes, para me conduzir ao banheiro. De pé ao lado da cama, ela fechou os espelhos do armário, para que nenhum reflexo de suas costas alcançasse minha vista. Começou a me despir, como se me arrumasse para uma festa, e seus dedos em nenhum momento se afastavam de minha pele.
Retardando-se deliberadamente, ela puxou meu corpo contra o seu, fazendo o papel da ama indecisa quanto a conceder algum pequeno favor a seu pupilo. Beijei-a com carinho, feliz por ela ter vencido na vida e estar casada com um médico importante.
O filme de nossa vida projetou-se ao contrário, velozmente, devorando a si mesmo ao se lançar à procura de algum momento desprezado que explicasse as pessoas que tínhamos sido.
Em nosso último dia em Los Angeles, uma semana depois da estréia do filme, Cleo e eu resolvemos fazer uma última visita ao oceano. À espera de nosso carro, ficamos na entrada do hotel, contemplando os arranha-céus pretos de Century City, a poucas centenas de metros. Aquele aglomerado de torres sem janelas alteava-se sobre a imensidão da cidade como uma dura Manhattan de obsidiana.
Cleo olhou para as lâminas frias e estremeceu.
- Será que vai ser tudo assim quando voltarmos? Meu Deus... Que tipo de céu rodeia aquelas agulhas?
- Nenhum em que eu queira viver. Mas pense bem, Cleo: o modernismo é o gótico da era da informação. Sonhos suficientemente agudos para sangrar, e nada de dúvidas quanto ao lugar humilde do homem na ordem das coisas. Vamos para a praia...
Venice, em contraste, era decrépita e reconfortante. Um fragmento intacto dos anos 60 sobrevivia em seus calçadões. As largas faixas de areia eram ocupadas por patinadores e ginastas, dançarinos de break e mendigos que se faziam passar por neuróticos da guerra do Vietnam. As modestas barracas de camelôs exibiam camisetas do flowerpower e biju-terias místicas. Fogueiras de gravetos ardiam na areia, ao lado dos abrigos construídos por grupos de hippies. O mar parecia muito distante, um tremeluzir de ondas no horizonte, como se o Pacífico tivesse resolvido distanciar-se naquele dia. Minha impressão era a de caminharmos sobre o leito de um mar fóssil, em cuja superfície ferida incrustavam-se pontas de cigarros, canetas esferográficas e latas de cerveja, tudo o que ficara de uma raça mais antiga.
Passei o braço em torno de Cleo, feliz por ter sua companhia e estarmos de viagem marcada para Nova York. A estréia fora um enorme sucesso, realizada com o tranqüilo profissionalismo de Hollywood, como uma vasta alucinação jovial - as centenas de limusines, os holofotes e as ruas fechadas, com tapetes vermelhos e guardas de segurança. A platéia de atores parecia ter fugido da realidade para aquela noite, caminhando pelos corredores do cinema com seus casacos de zibelina e pacotes de pipoca.
Afinal, minha figuração tinha sido mesmo cortada na montagem final, o que muito me aliviara, embora eu sobrevivesse como um breve borrão, entrevisto no momento em que a câmara mostrava o Jim menino brincando com um aeromodelo. Mas isso pareceu justo, na medida em que um leve borrão era tudo que qualquer um de nós deixava no tempo e no espaço. Além disso, o filme cumprira para mim um papel mais profundo - ver sua soberba recriação de Xangai tinha sido o último ato de uma catarse que levara décadas para se consumar. Todas as possibilidades do cinema moderno tinham sido mobilizadas para esse exercício terapêutico. O quebra-cabeça se solucionara; o espelho, como eu prometera, se partira de dentro para fora. Em minha mente, a imagem se fundira com o original, abrigando-o sob suas asas protetoras. Contemplando os grandes hotéis do Bund, inalterados depois de cinqüenta anos, eu quase achava que minhas lembranças de Xangai tinham sido sempre um filme, projetado interminavelmente em minha cabeça durante meus anos na Inglaterra, depois da guerra.
- Estão lançando uma espécie de navio.
Cleo apontou para a multidão reunida à beira d'agua. Um trator de esteira dava marcha à ré na areia, empurrando um reboque sobre o qual havia uma estranha embarcação a vela. Um mastro único se elevava acima de uma cabine semelhante a uma cabana coberta de palha. Ao nos aproximarmos, vimos que o casco era inteiramente construído de feixes de papiro, que se juntavam na proa e na popa como a alça de uma cesta de vime.
Uma vela redonda pendia do mastro, ostentando um emblema vermelho que me parecia vagamente conhecido.
Cleo parou e observou melhor a embarcação, cobrindo os olhos com a mão em pala.
- É o barco de papiro de Heyerdahl... o Ra. Nós publicamos o livro.
- Pensei que houvesse afundado no Atlântico...
- Ele deve estar tentando atravessar o Pacífico. Não quer apresentar-se como voluntário, Jim? É a réplica de um original asiático...
- Não creio que tenha qualquer coisa de original. Ajoelhados na água rasa, tripulantes examinavam a parte inferior da
embarcação. Chegamos mais perto, avançando entre as crianças e os cachorros, que brincavam ao redor do trator. A superestrutura, construída de plástico moldado e fibra de vidro, simulava ser feita de papiro e estava aparafusada a um resistente casco de aço.
- É a réplica de uma réplica. - Cleo riu, achando graça do logro em que caíra. - Deve estar sendo usada num filme.
- Mas parece mesmo uma embarcação real. Se estão fazendo um comercial de tevê, vão precisar de um barco mais resistente do que o original de Heyerdahl. Esse aí vai para algum lugar.
- Jim, essa é sua chance de subir a bordo.
Um labrador negro saltava de um lado para outro, lambendo nossas mãos e se preparando para se sacudir e nos molhar. Acariciei sua cabeça, admirando a habilidade da tripulação americana. Um homem, de calção de banho e chapéu de palha, filmava o lançamento com uma câmara de vídeo. Pelo menos aquele barco não afundaria, e um cruzeiro de teste, entre os iates de fim de semana de Marina Del Rey, talvez expusesse mais verdades sobre o desempenho da tripulação e do barco que a malograda falsa travessia do Atlântico empreendida pelo original.
Lembrei-me de Olga, singrando serenamente o saguão do Beverly Hilton depois de nos despedirmos. Quando ela encostou o rosto no meu, beijei pela última vez a face de minha ama de infância. Aquela máscara juvenil e imemorial era sua verdadeira identidade, que o tempo lhe roubara, o rosto inocente e sem rugas que nunca lhe fora concedido conhecer na adolescência.
A guerra tinha adiado minha própria infância, a ser redescoberta anos depois com Henry, Alice e Lucy. Terminara a época de estratagemas desesperados, das batidas de carros e de alucinógenos, do sexo aberrante vasculhado como uma biblioteca de metáforas extremas. Miriam e todos os mortos assassinados de uma guerra mundial haviam obtido sua paz. A felicidade que eu encontrara estivera à minha espera no espaço modesto de meus próprios braços, em meus filhos e nas mulheres que eu amara, nos amigos que haviam aberto seu caminho durante os anos loucos. As ondas batiam com força em nossos tornozelos. Um vento forte soprava na praia, e a embarcação de papiro se libertara de sua tripulação. Conduzindo somente o homem da câmara de vídeo, que se segurava no mastro para se proteger da retranca, o barco cavalgava as ondas com firmeza. A tripulação puxava as amarras, mas sem conseguir domar a embarcação impetuosa. Réplica de uma réplica ela podia ser, mas era bem equilibrada, mais que capaz de fazer-se ao mar e fixar sua própria rota através do Pacífico, tendo como tripulante apenas o cinegrafista seqüestrado, talvez terminando com um empuxão triunfante nas praias de Woosung.
- Nova York amanhã. Depois, voltar para casa e ver as crianças. - Cleo segurou meu braço com força enquanto voltávamos para o carro, passando pelos hippies e pelas fogueiras na praia.-Diga-me uma coisa... Quando o filme for exibido em Londres, será que hão de repor sua ponta?
- Espero que não. - Olhei para o barco de papiro, que enfrentava as vagas do Pacífico, aproado para a China. - Cleo, pense só aonde isso poderia levar...
[1] Prato escocês feito com miúdos picados. (N. do T.)
[2] Membro da guarda da Torre de Londres. (N. do T.)
J.G. Ballard
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















