



Biblio "SEBO"




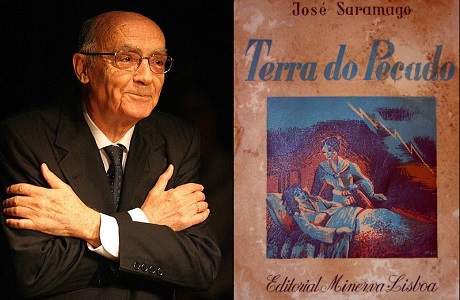
Um enjoativo cheiro a remédios adensava a atmosfera do quarto. Respirava-se com dificuldade. O ar, demasiadamente aquecido, mal penetrava nos pulmões do doente, de cujo corpo se divisavam os contornos por baixo das cobertas desalinhadas, donde se exalava um odor a febre que entontecia. Da sala do lado, amortecido pela espessura da porta fechada, vinha um surdo rumor de vozes. O doente oscilava devagar a cabeça sobre a almofada manchada de suor, num gesto de fadiga e de sofrimento. As vozes afastaram-se pouco a pouco. Em baixo, uma porta bateu e estropearam as patas dum cavalo. O ruído da areia esmagada ao trotar do animal cresceu de súbito sob a janela do quarto e cessou logo como se os cascos pisassem lama. Um cão ladrou.
Por detrás da porta ouviram-se passos cautelosos e medidos. O trinco da fechadura rangeu de leve, a porta abriu-se e deu passagem a uma mulher que se aproximou da cama. O doente, despertado da sua modorra inquieta, perguntou, num sobressalto:
- Quem está aí? - e depois, reparando: - Ah, és tu! Onde está a senhora?
- A senhora foi acompanhar o senhor doutor à porta. Não deve tardar...
Respondeu-lhe um suspiro. O doente olhou com tristeza as longas mãos, magras e amarelas como as mãos duma velha
- Sempre é verdade que estou muito mal, Benedita? E que, segundo todas as aparências, não devo salvar-me desta?
- Credo, senhor Ribeiro! Por que fala em morrer? Não é isso o que diz o senhor doutor...
- Meu irmão?...
- Sim, senhor! E também o senhor doutor Viegas, que saiu agora. Não deve ter passado ainda o portão da quinta. Deus Nosso Senhor o guarde de maus encontros quando passar ao pé do cemitério, que ainda vai para as bandas dos Mouchões!...
O doente sorriu. Um sorriso vago, que lhe alegrou fugidiamente o rosto emagrecido e que lhe engelhou os lábios finos e secos. Passou a mão pela barba densa, raiada de branco no queixo, e respondeu:
- Benedita, Benedita, olha que não é razoável falar de cemitérios a um doente grave, que vê com frequência demasiada, através da janela do quarto, os muros de um dos tais!...
Benedita desviou o rosto e enxugou duas lágrimas que lhe assomavam as pálpebras cansadas.
- Choras?
- Não posso ouvir falar nessas coisas, senhor Ribeiro.
O senhor não pode morrer!
- Não posso morrer? Tonta!... Bem vês que posso...
Todos nós podemos!
Benedita tirou o lenço da algibeira do avental e limpou, devagar, os olhos húmidos. Depois dirigiu-se para a cómoda, onde uma imagem da Virgem parecia mover-se na oscilação da luz das velas que a rodeavam, juntou as mãos e murmurou:
- Avé-Maria, cheia de graça...
O silêncio caiu no quarto. Apenas o sussurro dos lábios de Benedita o interrompia no murmurar da oração. Do fundo do aposento saiu a voz do doente, um tanto enfraquecida e trémula:
- Que bela fé tu tens, Benedita! É essa a verdadeira crença, a que não discute, a que se conforma e acha em tudo a própria explicação.
- Não entendo, senhor Ribeiro. Creio e nada mais...
- Sim!... Crês e nada mais... Não ouves passos?
- Deve ser a senhora dona Maria Leonor.
A porta descerrou-se lentamente e entrou Maria Leonor, vestida de escuro, com uma mantilha de renda negra sobre os cabelos claros e brilhantes.
- Então, que disse o doutor Viegas?
- Acha-te no mesmo estado, mas crê que melhorarás dentro de pouco tempo.
- Crê que melhorarei... Sim! Melhorarei, por certo.
Maria Leonor encaminhou-se para a cama e sentou-se à beira do doente. Os olhos dele, febris, procuraram os dela. Num enternecimento brusco, perguntou:
- Tu choraste?
- Não, Manuel! Por que havia de chorar? Não estás pior, daqui a algum tempo estarás curado... Que motivos terei para chorar?
- A passarem-se as coisas como dizes, não tens, de facto, motivos...
Benedita, que estivera absorta, acabando a oração, aproximou-se dos dois:
- Vou ver se os meninos dormem, minha senhora.
- Vim de lá agora e estavam a dormir. Mas vai, vai...
- Com licença!
A porta fechou-se atrás de si. Percorreu um longo corredor mergulhado em penumbra, onde os passos, amortecidos pela alcatifa, soavam surdamente. Abriu uma porta grande e pesada, atravessou uma sala deserta e iluminada por duas grandes manchas de luar no sobrado, onde se estendia uma cruz de sombra. Foi até à janela, abriu-a e olhou para fora. A Lua fazia cintilar as árvores e as casas dispersas pela quinta. Do andar de baixo subia um ruído de vozes. No terreiro alongavam-se, como os cinco dedos da mão, as projecções luminosas das cinco frestas da cozinha.
Benedita cerrou devagar as janelas e correu os ferrolhos dos caixilhos. Ás apalpadelas, dirigiu-se a uma porta cujas frinchas deixavam passar fracos raios de luz. Entrou.
Em duas camas pequenas, lado a lado, dormiam duas crianças. Uma lâmpada colocada em cima de uma mesa baixa espalhava em redor a sua claridade mortiça e trémula. Benedita debruçou-se a contemplar os dois adormecidos. Uma das crianças mexeu-se e, depois de deitar um dos braços para fora da roupa que a tapava, encolheu-se toda, suspirando, e continuou a dormir. Benedita sentou-se numa cadeira e pôs-se a vigiar as crianças, envolvida pelo silêncio que pesava sobre a casa. Embrulhou-se no xale que trazia nos ombros e, insensivelmente, foram-se-lhe as pálpebras fechando, entorpecendo. Não adormeceu de todo, mas ficou imersa numa sonolência mole, num torpor agradável, de que acordava a espaços para logo continuar. O seu desejo seria ir deitar-se. Mas, para quê? De um momento para o outro, teria de levantar-se, para atender o patrão. Tão bom senhor, aquele! O único que, no seu modo de ver, poderia ter merecido a menina Maria Leonor, a quem agora, aliás, já não chamava menina. Depois que a ama casara, costumara-se a chamar-lhe senhora dona Maria Leonor, e senhora dona Maria Leonor ficara para sempre. Bem que lhe custara a habituar-se, mas, enfim, não era ela uma senhora casada? A si, é que ninguém quisera para mulher e agora, com quarenta e dois anos, já não era tempo. Benedita sorria no meio do seu devanear, recordando o casamento da senhora. Bela festa, como nunca vira outra! Depois da cerimónia, tinham partido os três para a Quinta Seca, que de seca só tinha o nome, actualmente. Nos primeiros tempos, ambas tinham sofrido de saudades, mas o senhor Manuel Ribeiro levara-as algumas vezes a Lisboa. Por fim, acabaram por não desejar aquelas viagens. Era tão agradável viver no campo, fora da balbúrdia das ruas apinhadas de gente, que ambas já detestavam e temiam! Os anos passaram, e ela tinha duas crianças para entreter e para adorar. Não! Nada mais desejava. Era feliz. Só há pouco tempo a doença do patrão viera interromper a felicidade da casa. Nem já os trabalhadores da quinta pareciam os mesmos. Todos os dias queriam saber das melhoras do patrão e, perante as respostas quase sempre desanimadoras, suspiravam, pesarosos.
Era um raio duma doença... Nem o mano do senhor, o senhor doutor António Ribeiro, nem aquele outro médico do Parreira, o doutor Viegas, atinavam com o remédio para a moléstia. Doença tão ruim era ela, que o patrão estava uma sombra do que fora antes. Talvez se curasse, mas não seria, decerto, nunca mais, o mesmo homem que conseguira fazer daquele chão quase bravio, que herdara do pai, a mais formosa quinta dos arredores. Benedita bem podia dizer que vira o milagre realizar-se diante dos seus olhos, ano a ano, estação a estação. E agora... O patrão estava doente. Quisesse Deus que ele sarasse, e a sua presença bastaria para que aqueles campos não deixassem de ser o que eram! Mas se ele morria, que desastre, Senhor Deus! A quinta era o único bem da família, e sem o braço dum homem a sustentá-la, seria a pobreza. A senhora dona Maria Leonor era uma mulher corajosa e firme, disso estava certa. Mas seria suficiente?
Benedita despertou. Teve um ligeiro estremecimento ao reparar nas crianças que repousavam. Levantou os olhos para o relógio de parede que tiquetaqueava monotonamente no quarto. Meia-noite e meia hora! Como se deixara assim amodorrar? Não dormira, isso não, mas as pálpebras pesavam-lhe imenso e a cabeça caía-lhe para o peito, atordoada. Tinha sono. Que faria a senhora aquela hora? Velava o marido, decerto. Sorriu, triste, pensando que também gostaria de velar o seu marido, se o tivesse. Nunca homem nenhum lhe dissera, porém, o que o senhor Manuel Ribeiro dizia à senhora e que, por vezes, ouvia. Os quartos eram tão próximos que os ruídos mais fortes atravessavam as paredes e iam retinir-lhe nos ouvidos como risadas de troça. Deitada na sua estreita cama, ouvia e sofria, em silêncio, a pena de estar só. Só, estaria toda a vida, com certeza. Era apenas dois anos mais velha que o senhor. Poderia ser esposa dele, se Deus o tivesse querido...
Abanou a cabeça com força, expulsando os últimos restos do sonho. Ergueu os braços retesados e espreguiçou-se. Um quebranto delicioso invadiu-lhe os membros. Reagindo, levantou-se da cadeira e, depois de olhar de novo as crianças adormecidas, saiu do quarto, levando a lâmpada que lhe derramava no avental uma luminosidade dourada.
Bateu uma hora. Do andar de baixo já não vinha o rumor das vozes. Tinham ido
deitar-se, os criados. A chuva percutia as vidraças: o Inverno nunca mais tinha fim. Parecia que o céu se desentranhava em água e que fazia da terra um mar de lama. Havia já algumas semanas que não se podia trabalhar na quinta.
Benedita entrava no patamar da escada que descia ao rés-do-chão, quando, de repente, no fundo do corredor, no quarto dos patrões, ouviu um grito. O corpo tremeu-lhe como os vimes na corrente do rio. A porta do quarto abriu-se com violência. Maria Leonor saía, gritando, desgrenhada e com o horror vincado no rosto. Das mãos, subitamente sem força, de Benedita, caiu a lâmpada com um estrondo surdo, apagando-se ao rolar no sobrado. Maria Leonor caminhava pelo corredor fora, gemendo e gesticulando como louca. Tropeçou e desabou, no chão, a soluçar. Sobre a cómoda, as velas iluminavam ainda a imagem da Virgem branca. Ao fundo, na cama, o corpo imóvel de Manuel Ribeiro, com um dos braços pendente, rojando o soalho. Na alma de Benedita qualquer coisa se afundou para sempre. Com uma longa vertigem, ficou no meio do quarto, quase a desmaiar, os olhos presos no magro corpo estendido.
Maria Leonor entrava de novo, chorando, com o seio arquejante, e precipitou-se sobre a cama desfeita, a gemer, amarfanhada pelo sofrimento, cega de lágrimas. Dos seus lábios, trémulos e torcidos, saíam palavras entrecortadas de soluços:
- Manuel! Manuel!...
Benedita aproximou-se da ama e deixou-se cair de joelhos junto dela. Chorava baixinho. Os seus olhos fitaram o rosto de Manuel Ribeiro, duma serenidade absoluta e indiferente, e desceram pelo braço até à mão lívida que tocava o tapete. Lentamente, baixou-se e beijou os dedos frios e inertes. Que importava? Agora ele já não era de ninguém da Terra. Ninguém tinha direitos sobre ele, a não ser Deus.
Maria Leonor levantou-se de golpe e gritou, com desespero:
- Meu Deus, meu Deus! O meu Manuel, por que mo mataste, Senhor?
Caminhou deliberadamente para o oratório e, com o braço direito, varreu as velas, as imagens, os solitários floridos, que se estilhaçaram no chão. Bendita, estupefacta, levantou-se, e, apertando Maria Leonor nos braços, gritou:
- Que faz, minha senhora? Sossegue, por amor de Deus!...
Um tropel, vindo do lado da porta, fez-lhes voltar as cabeças aflitas. Os criados, tremendo de medo, tinham subido a correr as escadas, e estavam agora entre os umbrais da porta, mirando, com os olhos rasos de lágrimas, o corpo do patrão. Entraram, um por um, contrafeitos. Dentre eles saiu o ruído dum soluço e, imediatamente, as lágrimas caíram de todos os olhos. Rodearam o leito. Jerónimo, o abegão da quinta, levantou com respeito o braço de Manuel Ribeiro e depô-lo sobre as cobertas, acariciando-lhe a mão gelada com os dedos calejados e duros.
O dia amanheceu cinzento e chuvoso. A terra, ensopada de lama, saturava-se da água, que escorria pelas valas, formando riachos e inundando as culturas. À porta da casa, abrigados debaixo da alpendrada, os trabalhadores olhavam a desolação dos campos desertos e espreitavam o céu, carregado e soturno, que se desfazia em chuva. Do interior, vinha um cheiro pesado de coisas mortas, de flores emurchecidas. Todo o dia se passou no meio do temporal, que não findava, entre vultos escuros que entravam e saíam, de olhos vermelhos, suspirando.
O velho Jerónimo, que velara o corpo de Manuel Ribeiro durante a noite inteira e que em todo o dia não arredara pé de junto dele, saía agora, cansado, lacrimejante, as mãos um pouco trémulas. Deixou-se cair em cima dum dos bancos de pedra que ladeavam a entrada e, com a cabeça entre as palmas das mãos, começou a chorar. Os outros aproximaram-se e ficaram olhando o velho. Ninguém disse uma palavra sequer. Apenas o ruído da chuva no terreno ensopado e os soluços sufocados do abegão se ouviam. Depois, um dos homens abeirou-se de Jerónimo e disse, numa voz sumida:
- Então, senhor Jerónimo, não chore! Deus Nosso Senhor quis levar o patrão Manuel e lá devia ter as suas razões para isso...
Jerónimo ergueu a cabeça embranquecida e replicou: - Cala-te, rapaz! Que percebes tu destas coisas? Um homem daqueles não devia morrer tão novo.
Seria melhor que Deus me levasse a mim, que já não faço falta. Não, rapaz, Deus não é justo!
- Estás enganado, Jerónimo! Deus é justo e sabe o que faz. Nós é que não compreendemos que a sua vontade não pode prender-se com os nossos desejos!...
Ouvindo estas palavras, pronunciadas em tom grave e solene, todos se voltaram. Tiraram os chapéus e os barretes ao reconhecerem o prior, que, debaixo dum chapéu-de-chuva que escorria água para cima da capa preta que vestia, os fitava.
Jerónimo abanou a cabeça e respondeu:
O senhor prior deve ter razão! Tem razão, com certeza: basta ser quem é!... Mas não é um dó de alma ver aquele homem, que foi a vida desta terra, estendido numa cama, inteiriço, morto?... Acabou tudo para ele. Nunca mais há-de
perguntar-me, com aqueles modos que nunca vi noutra pessoa em toda a minha vida: «Jerónimo, então como vão os homens?» E a alegria que eu tinha quando lhe dizia que estavam todos bons e contentes com o trabalho!...
- É verdade, Jerónimo, que o senhor Manuel Ribeiro, que Deus tenha em sua Santa glória, era um homem de bem. Mas os homens de bem também morrem, como morrem os criminosos, os maus. E para que isto possa suceder assim, Deus tem as suas razões. Só ele sabe o que quer e por que o quer. E nós, mortais que somos, nada temos a fazer senão conformar-nos com a sua vontade...
Dizendo isto, o padre avançou por entre o grupo, abraçou o abegão, que tremia, abalado pelos soluços, e entrou em casa. Desembaraçou-se da capa e do
guarda-chuva e subiu lentamente a escada que levava ao andar superior. Deteve-se, comovido, quando chegou ao patamar. Mexendo distraídamente nuns blocos de madeira pintada, duas crianças encolhiam-se a um canto. Não riam, e nos seus modos o sacerdote notou um constrangimento indefinido. A atmosfera pesava-lhes nos ombros delicados e frágeis. A mais velha, um rapaz, ao ver o padre, correu para ele, pulando para lhe chegar aos ombros. A outra lançou-se atrás do irmão.
O pastor baixou-se para a agarrar e, com os dois ao colo, sentiu as lágrimas
correrem-lhe pelas faces, enquanto pensava: « Deus deve ter razão... Eu não sei, mas Deus deve ter razão...»
O rapazinho, atentando-lhe no rosto, perguntou, ansioso:
- Que tem? Por que é que está a chorar?
O padre depôs as crianças no chão e levou-as para o canto, dizendo:
- Não tenho nada, Dionísio, eu não estou a chorar! Deixa-te estar aqui sossegado com a tua irmã, que eu volto já...
Limpando as lágrimas com as costas da mão, dirigiu-se para uma porta, que abriu. Encontrou-se numa sala obscura, onde um homem, sentado numa cadeira de balanço, olhava, abstracto, para o campo, que se estendia diante da casa. Ao ruído da porta, fechando-se, aquele teve um estremecimento e voltou a cabeça. Vendo o padre, levantou-se e dirigiu-se-lhe, de braços abertos. Quedaram-se por largo espaço, abraçados e mudos.
Desprendendo-se, o sacerdote disse, depois:
- Coragem, António! É precisa coragem para suportar um desgosto destes!...
- Oh, padre Cristiano! O meu pobre irmão, morto, quando mais esperanças havia de salvá-lo, quando a pior crise estava passada. Nada fazia esperar isto! Nada, absolutamente nada!
Encostou-se a uma mesa e, deixando cair os braços, desalentado, olhou para uma porta fechada e murmurou:
- A Maria Leonor está ali, no quarto. Não consegui convencê-la a sair um pouco. Insisti e ela mandou-me sair, imediatamente. Tive de vir... Está muito perturbada, e eu mesmo sinto quase a razão a fugir-me. Veja se a acalma...
Sentou-se na cadeira e suspirou. O padre respondeu em voz baixa:
- Sossega também, António. Não entres... Deus nos dê forças para sofrer esta angústia!
Colocou a mão sobre a tranqueta da porta e rodou-a, devagar. Junto da cama, aglomeravam-se os criados, de joelhos, rezando.
Aos pés do caixão, onde tinham já colocado o corpo de Manuel Ribeiro, Maria Leonor soluçava. O espectáculo do seu sofrimento quase produzia uma dor física.
O sacerdote acercou-se, de mãos postas. Benedita ergueu o rosto para ele e, depois, com os olhos fitos na face do amo, continuou a oração.
A claridade das velas lutava com a escuridão do quarto fechado, provocando uma meia luz impressionante e trágica, mais trágica que as próprias trevas absolutas. O cheiro das flores murchas misturava-se com o odor da cera queimada e inundava o quarto de uma atmosfera densa, carregada de perturbações.
No corredor, uma criada desmaiou. Levaram-na, à pressa, levantando um ruído de pés arrastados, que fez voltar o rosto transtornado de Maria Leonor. Um desejo furioso de expulsar toda a gente dali se apossou dela; apenas a voz da razão a impedia de gritar que a deixassem, até morrer também, aos pés do cadáver do marido.
Nesse momento, entraram Jerónimo e três outros camponeses. Todos de cabeça descoberta e curvada caminharam para o padre, ao ouvido de quem o abegão pronunciou algumas palavras em voz baixa. O prior acenou afirmativamente e, dirigindo-se a Maria Leonor, levantou-a. Jerónimo fechou o caixão. Maria Leonor, aparvalhada, olhava para ele. Súbito, arrancou-se dos braços do padre, correu para Jerónimo e tirou-lhe a chave. Tentou abrir de novo a tampa do ataúde. Os seus dedos trémulos procuravam atabalhoadamente erguer o pesado madeiro. A desesperação, a impotência, o desalento, perpassaram-lhe no rosto. Cambaleou, abrindo e fechando as mãos no ar, e tombou no sobrado, desmaiada.
Jerónimo e os companheiros levantaram o caixão sobre os ombros e encaminharam-se para a porta. Benedita soergueu Maria Leonor, que, voltando a si, se levantava, forcejando por se manter de pé. O padre amparou-a. Benedita passou-lhe também um braço em volta da cintura e os três seguiram, lentamente, os homens que conduziam o corpo de Manuel Ribeiro.
António, que abrira a porta da sala onde o padre o deixara, juntou-se-lhe, cabisbaixo. Os criados afastavam-se no corredor largo para o deixar passar. Jerónimo e os trabalhadores vergavam sob o peso do ataúde e inclinaram-se assustadoramente ao começar a descer a escada. As crianças, no patamar, olhavam admiradas para o cortejo: os fatos escuros, as lágrimas, os suspiros abafados punham-lhes nas almas manchas de sombra e faziam-nas tremer, angustiadas. Uma criada correu para elas, e com o avental aberto diante dos olhos tapou-lhes a visão desoladora. Maria Leonor, amparada pelo padre e por Benedita, nem nelas atentou. Os seus olhos iam atrás daquela caixa comprida e estreita.
Chegados ao rés-do-chão, os homens que suportavam o ataúde hesitaram um momento. Lá fora, a chuva desabava em catadupas torrenciais, tamborilando nas vidraças e entrando pela porta aberta, soprada pelo vento. Os salpicos da água punham calafrios nas faces congestionadas dos trabalhadores, encostados às ombreiras da porta. Alguém lembrou, timidamente, que seria melhor esperar que a chuva abrandasse um pouco. Baixaram o caixão sobre quatro cadeiras e quedaram-se todos em volta, um tanto envergonhados com a consciência vaga e humilhante de que temiam molhar-se por causa do morto.
A chuva redobrava de violência. O céu tingia-se duma cor escura. Riscos luminosos começavam a sulcar as nuvens e o som ribombante da trovoada percebia-se ao longe. A espera prolongava-se e um sentimento de mal-estar e saturação
apoderava-se de todos, quando Maria Leonor, que se mantivera calma, quebrou o silêncio:
- Vamos!
Voltaram-se surpreendidos para ela, e António observou:
- Mas, Maria Leonor, esperemos mais algum tempo... A voz dela soou, novamente, agreste, dura, destacando as sílabas:
- Cala-te! Vamos embora, vamos embora!... Pronunciou estas palavras com um tom de voz semelhante ao som duma corda retesada e vibrada, prestes a quebrar.
A última palavra terminou num soluço.
Novamente o caixão foi içado para os ombros dos trabalhadores.
Saíram para a alameda que corria em linha recta para o portão da quinta. A chuva encharcou-os no mesmo instante. Ao cair sobre a tampa do ataúde, produzia um rumor surdo e contínuo de baquetas em pele de tambor e escorria depois pelas abas, indo pingar no chão enlameado, onde se sumia.
Com lentidão, o cortejo pôs-se a caminho, passando debaixo das árvores que ladeavam a estrada. As folhas largas recolhiam a chuva e deixavam-na escorregar em grossas gotas pelos troncos luzidios.
Debaixo do arvoredo, o préstito atardava-se, desenrolando a longa fita de fatos escuros e rostos chorosos. Passava agora no largo portão escancarado. Para lá, era um descampado imenso, onde a chuva caía em lençóis líquidos das nuvens baixas e cinzentas, que corriam do sul, fustigadas por um vento gelado.
Sob o guarda-chuva que Benedita sustentava, Maria Leonor seguia atrás do caixão, indiferente ao temporal. Os seus lábios frios não emitiam o mais leve som. Olhava na sua frente as guarnições douradas do caixão, como se descobrisse nelas motivos de interesse. Depois, demorou a vista, com uma atenção inconsciente, no correr de um fio de água que ia embeber-se nos cabelos de um dos moços que caminhava diante de si.
Ao caminho estreito que, atalhando, atravessava o campo em direcção à aldeia, endireitou o cortejo, chapinhando na lama que se agarrava às solas sofregamente como se a cada passada se abrisse o chão. A chuva diminuía, quando chegaram às primeiras casas do lugar. Nas valetas empedradas corria a água com um rumor gargarejante e agradável. Aos postigos assomavam rostos femininos que acenavam tristemente, murmurando palavras de dó, e se debruçavam no parapeito, seguindo, com o olhar, a cauda do cortejo, que se arrastava na rua.
Quando passaram em frente da igreja, onde os sinos tocavam a finados, a chuva cessou subitamente, e o vento frio, que arrastava as nuvens, deixou ver uma nesga de céu de um azul molhado e cintilante, puríssimo.
Um feixe de luz desceu sobre os telhados, fazendo brilhar as telhas húmidas.
Os quatro homens que conduziam o caixão, chegando ao fim da rua, cortaram à esquerda e começaram a subir a ladeira que levava ao cemitério.
No arco da entrada, uma caveira de pedra, cruzada por duas tíbias, abria as órbitas vazias com uma expressão de gélida indiferença, espectadora, há dezenas de anos, da agonia daqueles rostos aflitos e da tristeza daqueles fatos escuros.
Ao fundo da álea central erguia-se o muro branco, agora manchado de humidade. No lado de fora cresciam oliveiras, que deitavam os ramos quase despidos para dentro do cemitério. Rente ao muro, era a cova onde ia ser sepultado o corpo de Manuel Ribeiro. Os trabalhadores arriaram lentamente o caixão sobre uma padiola e endireitaram-se, arquejantes, sentindo nos ombros a dor vincada pela madeira. Lentas, grossas gotas de suor corriam nas faces crispadas pelo esforço. Jerónimo encostara-se ao muro e limpava o suor com a manga da jaqueta.
Fez-se um silêncio pesado. O céu varria-se de nuvens naquele ponto e o azul mostrava-se agora esplendente e luminoso. À volta, em todo o horizonte, acastelavam-se sombras.
O padre acercou-se da beira da cova, e fazendo os gestos do ritual sobre o caixão, rezou o ofício dos mortos. Na quietude do entardecer frio, as palavras latinas soavam mansamente, murmuradas pelos lábios trémulos do sacerdote. Todas as cabeças se descobriram e em todas as bocas a tristeza e o desgosto acharam palavras. Um coro de murmúrios e de soluços se levantou.
Do portão do cemitério vieram uns passos arrastados conduzindo uma enxada. O coveiro acercou-se do buraco e, depois de ter deitado um olhar de revés ao caixão, medindo-lhe mentalmente o comprimento, começou a alongar a cova com enxadadas firmes e certeiras. A terra caía no fundo com um ruído ininterrupto ao mergulhar na água acumulada lá dentro. Um tufo de verdura foi levado, também, pelo gume da enxada. Cintilou como uma esmeralda viva, no meio da água barrenta.
Maria Leonor, de cabeça baixa, pensava quão longa se estava tornando a cova. Os seus olhos secos iam das mãos peludas do coveiro para o traço brilhante da enxada. O homem resmoneava, fazendo rodar a ponta dum cigarro apagado, dum para o outro lado da boca, enquanto desfazia os torrões que se soltavam sob o impulso do ferro.
Depois duma última olhadela, o coveiro largou a enxada, batendo com as mãos, para sacudir a terra e, endireitando o olhar para o padre, murmurou, enquanto escondia o cigarro:
- Pronto, senhor prior!
O sacerdote voltou-se para Jerónimo, num convite mudo, que o abegão atendeu, agarrando uma das pegas do caixão. Os outros trabalhadores baixaram-se também, e ao mesmo tempo ergueram a pesada caixa que suspenderam sobre a cova. Passaram-lhe por baixo duas cordas e deixaram-na escorregar lentamente, raspando as paredes do buraco. De manso, pousaram-na no fundo coberto de água, e soltaram as laçadas.
Maria Leonor deixou o braço de Benedita e deu dois passos para a frente, debruçando-se para a sepultura. Gemia baixinho, como se a dor não pudesse já exprimir-se em gritos. Curvou-se rapidamente e deixou-se cair de joelhos sobre a terra molhada e negra. Os seus dedos crisparam-se nos torrões macios, esmagando-os um por um. As lágrimas desciam-lhe pelo rosto.
O coveiro, abrindo as pernas sobre os lados da cova, começou a enchê-la. Maria Leonor, de novo, olhou-lhe as mãos cabeludas e negras e, de repente, sem um grito, sem uma palavra, atirou-se ao homem, mordendo-lhe os dedos, com fúria. O coveiro soltou uma praga imunda e, dando um salto para trás, empurrou-a,
fazendo-a cair no chão.
Sobre o ataúde rolaram alguns torrões.
Aquela violência rebentou o dique que sustinha o desespero de Maria Leonor. E os muros do cemitério repetiram, uma vez mais, os ecos cansados da desolação.
O regresso foi penoso. Na carroça que a conduzia, Maria Leonor, deitada numa camada de palha húmida, chorava. O padre, curvado para ela, olhava-a com uma tristeza impotente. Quisera pronunciar as palavras balsâmicas que consolam as mágoas e secam as lágrimas, mas toda a sua piedade de sacerdote nada lhe inspirava além do silêncio.
Benedita, em cujo colo repousava a cabeça de Maria Leonor, fixava a estrada apaticamente, enquanto acariciava os cabelos da ama. Pensava na trágica cena do cemitério e, diante de si, saltando no cascalho da estrada, pareceu-lhe ver a caveira de pedra, caminhando sobre as duas tíbias cruzadas. Esfregou os olhos, assustada, e a visão desapareceu. Agitada pelos solavancos do carro, sentiu a humidade da palha infiltrar-se-lhe nos vestidos e arrepiar-lhe a pele. Olhou para Maria Leonor e viu-a ofegante, com um tom rosado no rosto. A respiração saía-lhe sibilante dos lábios secos e gretados pelo frio e, a espaços, percorria-lhe o corpo um longo arrepio.
Benedita voltou-se para António, que guiava, e exclamou, inquieta:
- Pare, senhor doutor, pare!
António puxou as rédeas com violência, fazendo encabrestar o animal, que rinchou, dorido. O padre perscrutou o rosto de Maria Leonor e disse:
- Parece que não está bem!
António, curvando-se sobre o banco, tomou o pulso da cunhada e, pelo espaço de alguns segundos, manteve-se silencioso e atento, enquanto o padre despia o longo capote e cobria o corpo de Maria Leonor:
- Tem febre!... - Murmurou.
E logo voltando as rédeas, empunhou o chicote e fustigou os flancos do animal, que rompeu num trote rasgado pela estrada fora, fazendo saltar as rodas nas pedras soltas do caminho. Benedita, apertando contra si o corpo de Maria Leonor, protegia-a dos saltos bruscos que lhe atiravam o tronco contra os taipais da carroça.
Correram assim todo o caminho até ao portão da quinta, que entraram, rasando as grossas colunas de pedra. Estacaram diante da porta da casa. Subiram a escada apressadamente, carregando o corpo de Maria Leonor, perante o pasmo dos criados que se aglomeravam nos degraus. António, impaciente, empurrou-os:
- Fora daqui, brutos! Deixem passar!... Tu, rapaz, salta já para a carroça que está lá em baixo e vai chamar o senhor doutor Viegas. Depressa!...
No patamar, estavam ainda Dionísio e a irmã. Ao verem a mãe amparada pelo padre e por Benedita, começaram a chorar. No burburinho das vozes aflitas que se levantou, o choro das crianças soava nítido e comovente. Maria Leonor entreabriu os lábios e, olhando os filhos, que se lhe agarravam a saia, murmurou:
- Meus filhos, meus pobres filhos!...
Levaram-na para dentro, Benedita e uma criada. Quando a encaminhavam para um dos quartos de dormir da casa, Maria Leonor resistiu, tentando andar sozinha, e dirigiu-se para o seu próprio quarto. Entre os umbrais, parou. Benedita seguiu-a, ansiosa, vendo-a caminhar, agora, encostada à parede, em direcção à cama, onde, sobre a alvura do travesseiro, descansava uma almofada.
Maria Leonor franziu as sobrancelhas como se procurasse recordar qualquer coisa. Voltando-se para Benedita, perguntou, numa voz sumida, quase inaudível:
- Por que não puseram também a outra almofada?
Benedita sentiu as lágrimas rolarem-lhe pelas faces pálidas e emagrecidas. Soltou um grito de susto vendo a ama cair inanimada sobre o leito. Correu para ela e deitou-a. Maria Leonor tremia de frio. Benedita, auxiliada pela outra criada, cobriu-a, e sem se voltar para a companheira disse rapidamente:
- Teresa, chama o senhor doutor Ribeiro! Não te demores!
Teresa saiu, apressada, e quase esbarrou à porta da sala com António, que vinha entrando.
- Senhor doutor, vá ao quarto da senhora!... A Benedita acabou de deitá-la, agora mesmo. Parece que está muito malzinha!...
António caminhou para o leito, descalçando as luvas, que atirou para o chão. O rosto pálido de Maria Leonor, emoldurado pelos cabelos loiros, desfeitos sobre a almofada, estava imóvel. Apenas um leve tremor nas asas do nariz indicava a respiração débil e fervente.
Benedita tirou duma gaveta um frasco de sais, com que tentou fazer voltar a ama a si. Maria Leonor agitou-se entre os lençóis, num arrepio lento, e abriu os olhos, esgazeados de espanto e incompreensão. Olhou para António e tapou púdicamente com as mãos o peito descoberto.
O cunhado desviou o olhar e pediu uma toalha a Benedita, que, atarantada, abria e fechava gavetas, desmanchava roupas, desgrenhada e aflita. Depois, voltando-se para Maria Leonor, disse-lhe:
- Leonor, senta-te na cama. Benedita, ajuda a ampará-la pelas costas. Assim...
Desdobrou a toalha e encostou-a ao peito branco de Maria Leonor. Apoiou nele o ouvido e mandou-a respirar profundamente. Franzindo a testa, preocupado, concentrava a atenção nos rumores que atravessavam o tecido e lhe iam ferir o ouvido atento.
Benedita sussurrou do outro lado: - Então, senhor doutor?...
- Cala-te!
Os fervores que percebia eram de mau agouro. Auscultou-a pelas costas e, de novo, as mesmas rugas de preocupação se lhe cavaram na testa.
Nesse instante, um rodar de carroça se ouviu na alameda e parou debaixo da janela. Alguém saltou do carro, apressadamente.
- Benedita, vai ver quem chegou! Deve ser o doutor Viegas...
A criada foi à janela ainda a tempo de ver entrar o médico.
- É sim, senhor doutor! - respondeu.
António sentou-se na cadeira, aguardando.
Um ruído de passos precedeu a entrada dum homem forte, de cabelos e bigode grisalhos, com uns óculos de aros grossos de tartaruga, que lhe defendiam os olhos míopes.
António levantou-se, dizendo:
- Como está, doutor? - e logo, mudando de tom, em voz baixa, para que Maria Leonor o não ouvisse: - Depois de um falecimento, uma doença. Aqui está a Leonor, que pelo que me parece, tem uma pneumonia em estádio evolutivo já muito adiantado.
Viegas acenou com a cabeça e, distraídamente, olhou em volta, perguntando:
- Já saiu o funeral?
António, surpreendido pela pergunta, respondeu com intenção:
- Já sim, doutor! Não sabia que o Manuel morreu?
O médico piscou os olhos, fitando o irmão de Manuel Ribeiro, e respondeu:
- Sabia, sabia, sim, meu rapaz! Que é que tu queres dizer com isso? Queres dizer que eu, velho amigo da casa, devia ter comparecido e acompanhar, à última morada, o Manuel? E que devia mostrar-me mais contristado e lacrimoso?
Tomou a toalha, e enquanto por sua vez auscultava Maria Leonor, que ouvia o diálogo, impassível, como se não o compreendesse, continuou:
- É isto o que queres insinuar, não é verdade? Pois bem, meu rapaz, eu cuidava de um vivo enquanto tu enterravas um morto. Querias que abandonasse o João Pernas, que tu não conheces, com certeza, com o ventre furado pela chifrada de um boi? Em matéria de sentimento, ainda vou pelos vivos, por maior respeito que tenha pelos mortos. Compreendes? Ninguém, nesta terra, sentiu o falecimento do Manuel tão profundamente como eu, mas o que eu não podia era deixar morrer um homem, só para acompanhar ao cemitério um outro, fosse ele, até, meu irmão ou meu pai!
Levantou-se e, olhando para António, que o escutava em silêncio, murmurou:
- Parece-me que não erraste o diagnóstico! A Leonor tem, de facto, uma pneumonia. É grave! É preciso tratá-la, se não quisermos vê-la morrer também!...
Debruçando-se para Maria Leonor, afastou-lhe os cabelos da testa abrasada e, dando-lhe uma pequena palmada na face, disse:
- Ora tu, Maria Leonor, que resolveste adoecer... Má altura, não haja dúvida... Bom, agora já aqui não sou preciso!... Volto para o João Pernas. Sabes o que deves fazer, não é verdade, António? Eu voltarei amanhã. Adeus!...
Ao sair, passou por Benedita, que o olhava, suspeitosa. O médico sorriu e, parando diante dela, pôs as mãos na cintura e perguntou-lhe, agradado:
- Parece que viste o inimigo, Benedita?! Quantas vezes te tenho dito que não sou tão mau como me pinta o padre Cristiano?
Benedita corou, envergonhada. Pensava, exactamente, que o doutor Viegas seria um excelente coração se não fosse tão brusco no dizer, ralhando por tudo e por nada, sem se preocupar com a idade ou a situação de quem o ouvia. Ainda agora, o que ele dissera ao senhor António Ribeiro... Quanto ao senhor padre Cristiano, não dizia ele mais do que toda a gente sabia: que na casa do Parreiral ninguém rezava o terço e que nunca os joelhos do médico tinham sentido a dureza fria das lajes da igreja. Os criados de Viegas rezavam pela mesma cartilha do patrão.
Uma peste! Deles costumava dizer o médico que eram escravos a quem tinha dado carta de alforria.
Benedita, sem responder, preparava-se para acompanhar Viegas à porta, mas o médico, olhando para António e Maria Leonor, disse:
- Não, não te incomodes, Benedita! Fica! Eu sei o caminho!... - e como se tivesse achado uma boa pilhéria: - Eu sei o caminho! Heim, que te parece, Benedita? Achas que, realmente, sei o caminho? Levo o padre Cristiano e aproveito para lho perguntar...
Saiu, apressado, para voltar daí a momentos, chamando Benedita para o corredor:
- É preciso cuidar daquelas crianças, agora, ouviste? De ambas, mas principalmente do Dionísio... Nunca me pareceu muito forte.
Enrolou-se no capote que trazia vestido e, depois dum aceno de despedida, partiu.
No quarto, Maria Leonor descerrou as pálpebras, e olhando com indiferença para a criada, que regressara, perguntou: - Que tenho eu? Que veio cá fazer o doutor Viegas? António, que preparava umas ventosas, respondeu, sem se
voltar:
- Não tens nada! Um pouco de febre, talvez... Isso passará com repouso e tratamento adequado. Deves descansar!
- Foi o mesmo que recomendaram ao Manuel, repouso e tratamento. E, na realidade, ele agora está melhor, não é certo?
António voltou-se, surpreendido. Maria Leonor, muito branca, cruzara as mãos sobre o peito e aguardava a resposta. António titubeava, embaraçado:
- Mas, Leonor, tu... não...
Lá fora, sobre o empedrado da valeta, caiu uma enxada, produzindo um som claro de metal são e forte. Maria Leonor levou as mãos à cabeça, apavorada, e sentando-se na cama olhou em volta, ansiosa. Não queria acreditar no que estava pensando. Fitou sucessivamente o cunhado e Benedita, e perguntou, tremente, medrosa da resposta:
- O Manuel?... É verdade que morreu? Não sei, recordo-me de qualquer coisa que se passou hoje!... O que foi? Digam-me...
Deteve-se. Através da janela e por entre a neblina do dia escuro que findava, avistou, ao longe, sobre o cabeço, as paredes brancas do cemitério. O choque foi brutal. Como uma inundação, as recordações submergiram-lhe o cérebro, paralisaram-lhe a voz, fizeram-na tremer de horror. Estendeu os braços para a frente, quis repelir a visão trágica. A febre parecia aumentar nos seus olhos os muros brancos, que avançavam na sua direcção, caminhavam pelo campo, rompiam pela janela e sufocavam.
Caiu sobre as almofadas, gemendo:
- Não, não, não!...
Durante longos dias, o temporal fustigou a região. Todas as tempestades do Universo pareciam ter ido localizar-se sobre a quinta deserta e os telhados da casa e, mais longe, sobre a aldeia, acaçapada e inerte, à beira do caminho. Perseguindo-se, furiosas e incansáveis, numa corrida veloz e desordenada, as nuvens, pardas, de reflexos metálicos e esbranquiçados, roçavam quase os ramos mais altos das árvores, esgalhadas pelo vento e desfolhadas pela chuva.
Um raio caiu no palheiro da quinta e, durante a noite inteira, durante horas pavorosas, as chamas devoraram todo o casarão. Um archote gigantesco se elevou da terra, rubro o violento como o caos original, e foi incendiar as nuvens que lhe passavam por cima, soltando gotas de água, cintilantes e rosadas, que caíam na fogueira imensa sem a apagar. Por aquelas longas horas, lentas e negras, com sulcos delirantes de fogo, os homens e as mulheres da quinta lançaram mão de tudo que pudesse apagar o incêndio. Enegrecidos, queimados, labutavam, exaustos e vacilantes, procurando salvar o celeiro, cujas paredes se tisnavam já, também, com o fumo espesso da palha molhada que ardia sempre.
Quando alvoreceu, apenas restavam de pé as paredes mestras do palheiro, largas e reforçadas.
Deixando, aqui e acolá, os baldes e os cântaros, pelos caminhos enlameados e negros das fagulhas e dos times que o fogo lançara ao ar e que caíam no chão com um chiar agudo e rápido, os homens encaminharam-se para as malhadas, onde o abegão dava, a cada um, meio copo de aguardente forte, que os reanimava, espantando o frio insidioso que lhes invadia os membros cansados.
Estenderam-se, arquejando, nos molhos de palha lançados ao acaso ao comprido das paredes. Jerónimo, de mãos enfiadas nas algibeiras, encostado à ombreira da porta, mirava, abanando desalentadamente a cabeça, as ruínas negras, ainda fumegantes, e mais longe, ao fundo, a casa, cujas janelas cerradas tinham um ar melancólico e desesperado, na meia luz do amanhecer. Do nascente, vinha uma claridade dum amarelo-rosado, que fazia brilhar os contornos torturados das nuvens que se acastelavam no céu.
De dentro, com as lufadas do ar em que pairava um cheiro a suor e a palha seca, saia o ressonar monótono dos homens exaustos. Um ou outro levantava-se e, dirigindo-se ao pichel, emborcava mais um gole de aguardente. Pigarreava, voltava ao calor da palha, deixava-se cair de braços abertos, num espasmo angustiante de animal cansado.
Por entre as filas dos adormecidos, Jerónimo dirigiu-se para o fundo da casa e, duma manjedoura derrubada, tirou enormes mantas, grossas e felpudas, que estendeu sobre os trabalhadores. Um deles, ainda não completamente adormecido, piscou os olhos inflamados e balbuciou:
- Obrigado, mestre Jerónimo!
- Dorme, rapaz.
O abegão, lançando por cima dos ombros uma saca de serapilheira áspera, saiu, sob a chuva, e encaminhou-se para casa. A uma criada que passava, saltando para evitar as poças de água, perguntou:
- A senhora, rapariga?...
A mulher estacou, equilibrando-se sobre uma pedra que emergia do lamaçal, e respondeu:
- Lá está! Melhoras, nenhumas... Desde que o patrão morreu, tem definhado de dia para dia. Diz a Benedita que será um milagre se se salvar. Deus a oiça...
Interrompeu-se para saltar abaixo da pedra e, depois de raspar a lama dos tamancos com a ponteira do guarda-chuva, continuou:
- Parece que a casa está embruxada. Doenças, mortes, fogos, não há mal que não nos chegue!...
Jerónimo olhou distraído para a rapariga, que tagarelava sobre benzeduras e exorcismos e, continuando o caminho com um encolher de ombros indiferente, redarguiu:
- Está bem, está bem, rapariga! Não digas parvoeiras...
De longe, a criada ainda gesticulava, de guarda-chuva na mão. Jerónimo, chegado a porta, bateu de leve e entrou, depois de sacudir no poial as botas cardadas. Benedita, que descia nesse momento a escada, perguntou:
- Então, o palheiro?
- Ardeu todo. Só ficaram as paredes e essas mesmas caem, com certeza. Será preciso fazer outro, desde os alicerces até ao telhado.
Calou-se. Parados diante um do outro, pensavam em coisas diferentes, que não no palheiro e no incêndio. O pensamento de ambos estava num quarto da casa, a essa hora mergulhado numa penumbra doce e resignada, onde flutuava um cheiro mole e pegajoso de remédios.
Benedita sentou-se pesadamente e disse, como se respondesse a uma pergunta:
- A senhora está um nadinha melhor esta manhã! Mas tem passado tão mal...
Jerónimo ergueu a cabeça quase branca e murmurou:
- Não há nada que não tenha acontecido nesta casa de há uns tempos a esta parte.
- Sim!... - respondeu Benedita. - De há um ano para cá. Desde que o senhor António voltou do Porto.
- É verdade. Parece que a má sorte veio com ele. Más colheitas, Inverno ruim, a morte do patrão, tudo...
Benedita, desalentada, deixou cair as mãos no regaço e suspirou:
- Tudo - depois, mudando de tom, perguntou: - E o que irá ser de nós, agora, senhor Jerónimo?
O abegão encolheu os ombros e, tirando a saca, respondeu enquanto fitava no chão as manchas húmidas das suas botas:
- Eu sei lá, Benedita! Isto já não andava bem com a doença do patrão. Agora, ele morreu, a senhora está doente, que queres que eu faça? É uma casa perdida... E olha que é uma pena! Um brinquinho, este chão!
Dizendo isto, limpou às escondidas uma lágrima que lhe molhara as pálpebras avermelhadas e continuou:
- A não ser que o senhor António...
Benedita ergueu a cabeça num gesto violento e ripostou:
- Isso não, senhor Jerónimo! Alguma coisa se há-de fazer sem o auxílio do senhor António Ribeiro! E demais, que podia ele fazer aqui? Um médico...
Fez um trejeito depreciativo, sacudindo os ombros. Jerónimo olhou-a com atenção e murmurou como se falasse para si:
- Parece que não gostas do senhor António Ribeiro, Benedita. Porquê? Que mal te fez?
A criada corou e, acenando precipitadamente a cabeça, respondeu:
- Que ideia, senhor Jerónimo! Por que não havia de gostar dele?
- Não sei, não sei! Talvez fosse impressão minha. Sim, deve ser isso, foi impressão.
Endireitou-se e, deitando um olhar a Benedita, que se atarefava na sala, disse-lhe:
- Bem, adeus, Benedita! Se o tempo mudar, começo hoje com a calda bordalesa no batatal do Canto da Ponte. Se não mudar, será mais um dia de costas direitas. Estimo as melhoras da senhora. Que Deus Nosso Senhor a guarde!
- Adeus, senhor Jerónimo! Recomende-me à senhora Clementina.
A porta fechou-se atrás do abegão, cujos passos arrastados se ouviram ainda, durante algum tempo, lá fora. Benedita tornou a subir a escada e entrou no quarto da ama.
Maria Leonor, reclinada nas travesseiras, dormia. As cobertas, subidas até aos ombros, apenas lhe deixavam ver o rosto emagrecido e febril. Os cabelos finos e corredios caíam-lhe aos lados das faces cavadas pela doença. Brilhavam-lhe alguns fios brancos, que serpeavam em largas curvas, indo esconder-se sob o pescoço levemente flectido, onde surgiam pequenas gotas de suor que, depois de rolarem sobre a pele descorada, se iam embeber na dobra do lençol.
Ao ruído dos passos de Benedita entreabriu os olhos e, encolhendo com vagar os ombros lassos e pontiagudos, perguntou, numa voz lenta e preguiçosa:
- Que foi que sucedeu para aí? Que vozes eram essas no terreiro, esta noite?
A criada hesitou, mas logo, pensando que insignificante desgosto seria para a ama o que se passara, comparando-o com os sucessos de há um mês, respondeu com indiferença, enquanto lhe ajeitava as almofadas:
- Nada de importância, minha senhora! Apenas o palheiro que ardeu... Caiu-lhe um raio em cima.
Maria Leonor levantou as sobrancelhas, enrugando a testa, e indagou:
- Ardeu todo?
- Todo... - e logo, pressurosa, acrescentou: - Mas não se incomode, minha senhora! O Inverno está no fim e, daqui até ao que vem, haverá tempo para construir um palheiro igual ou ainda maior. O gado não há-de sentir a falta.
- Sim, talvez não sinta. Olha, diz ao Jerónimo que trate de mandar levantar, encostado ao celeiro, um alpendre para abrigar a palha que se há-de comprar até ao outro Inverno, enquanto se não fizer o palheiro.
Disse estas palavras com firmeza, numa voz calma e descansada, parando apenas uma vez no meio da frase, para respirar fundamente. Benedita, inquieta, perguntou:
- Está pior, minha senhora? Sente-se mal?
Maria Leonor distendeu os lábios num sorriso e, apertando a mão de Benedita, pousada sobre a cama, respondeu:
- Não, sinto-me melhor, até! Tenho ainda aqui a pontada, mas de tal maneira que quase a não sinto...
Com os olhos rasos de lágrimas, Benedita experimentou uma alegria tão profunda que ajoelhou ao lado da cama e se inclinou sobre as mãos de Maria Leonor, que a acariciou em gestos lentos e cansados, olhando em frente a cómoda onde os solitários floridos guardavam de novo a imagem branca da Virgem.
De fora, através das cortinas de cassa, discretamente cerradas, entrava a claridade doce da manhã, que nascia detrás dos cerros do oriente. Maria Leonor, afagando sempre Benedita, recordava outra manhã, alguns anos antes, em que a luz também entrava assim, terna e suave, como se fosse dotada duma sensibilidade feminina, pelas cortinas corridas, iluminando o quarto silencioso, onde pairava um vago perfume de flores de laranjeira. Recordava-se daquela manhã e assistia agora ao romper do dia, imóvel, fraca, doente, com uma angústia desmedida na alma, uma dor intensa que lhe trazia lágrimas aos olhos ardentes. Naquela cadeira, ao lado do lavatório, vira ela, então, o seu véu de noiva. Lembrava-se da alegria profunda que a inundara, quando, de repente, sentira a presença do marido adormecido, a seu lado.
Em gradações imperceptíveis, a luz ia aclarando o quarto. Um feixe luminoso, doirado e brilhante, reflectido por alguma vidrara longínqua, fazia vibrar numa euforia louca, as partículas de pó suspensas na atmosfera, e alastrava-se numa parede, enchendo o aposento dum tom de esplendor que se espelhava nas superfícies polidas dos móveis, reproduzindo-se infinitamente, empalidecendo, devagar, à medida que o Sol subia, branco e metálico.
Maria Leonor suspirou e, atentando em Benedita, notou que ela adormecera, de joelhos, ao lado da cama, a cabeça pendida sobre as cobertas, num cansaço completo que lhe vincava umas rugas fundas, que, partindo das asas do nariz, desciam até aos cantos da boca, descaída e murcha. Abanou-a devagar. Benedita despertou, sobressaltada, com uma expressão de susto nos olhos estremunhados e, passando as costas da mão direita pela boca, bocejou longamente e sorriu, fitando a ama. Maria Leonor riu também:
- Como tu estás cansada, Benedita! Andas exausta! Vai descansar, vai, anda!...
A criada endireitou-se, pondo as mãos nos rins, e com uma careta de dor ergueu-se rapidamente, apoiando-se à cabeceira do leito. Enquanto caminhava pelo quarto, agora claro, ia arrumando os móveis, e respondia:
- Tenho tempo, minha senhora! Tenho muito tempo para dormir, quando a senhora estiver curada. Se Deus quiser, não há-de tardar muito que eu durma uma noite de um sono. Já ha tanto tempo que não sei o que isso é...
Calou-se bruscamente, perscrutando o rosto da ama para ver se aquelas frases impensadas, aquele «há tanto tempo>>, tinham acordado nela lembranças penosas. Maria Leonor, porém, estava calma e seguia com os olhos atentos o lidar de Benedita. Ia responder, quando umas pancadas suaves na porta lhe distraíram a atenção. Quase a seguir, sem outro aviso e sem aguardar resposta, a porta entreabriu-se e uma cabeça ornada duma touca muito branca espreitou para dentro, perguntando:
- Está melhorzinha, minha senhora? Passou bem a noite? Olhe, o senhor doutor Viegas está na sala. Pode entrar?
Maria Leonor compôs-se, apressada, na cama, deu um puxão aos lençóis, passou a mão pelos cabelos despenteados e respondeu:
- Manda entrar, Teresa, manda entrar!
A cabeça desapareceu e, daí a momentos, o doutor Viegas avançava, fazendo de caminho uma festa a Benedita, que recuou com um arreganho maldisposto. Apoiando-se nos colchões, sobre as mãos compactas e firmes, perguntou, mirando atentamente o rosto de Maria Leonor:
- Então, Leonor, que tal te sentes hoje?
- Melhor! Muito melhor, senhor doutor!
Os olhos de Benedita brilharam, alegres, ouvindo as palavras da ama. O médico franziu as sobrancelhas fortes e hirsutas e resmungou:
- Melhor, melhor! Os doentes dizem-se sempre melhores quando se lhes pergunta como estão. Como se os médicos não existissem para verem essas tais melhoras...
Aquela maneira de falar de Viegas exasperava Benedita, que observou, azeda:
- Parece impossível! Então não foi o senhor doutor que perguntou se estava melhor? É vontade de falar!...
Viegas voltou-se sorridente e respondeu:
- Fui eu quem perguntou, evidentemente. Não sou eu o médico?
Benedita deu-lhe as costas, furiosa, e pegando num pano sacudiu-o, violenta, sobre uma estatueta de Amor e Psiche, que oscilou bruscamente e deslizou no tampo polido do móvel. Deitou-lhe as mãos e conseguiu detê-la quase na queda. Olhou de soslaio para o médico e, vendo-o atento a observar as suas manobras, corou e saiu do quarto, batendo os tacões no soalho do corredor.
Maria Leonor, que seguira a cena, distraída, disse para Viegas:
- O doutor faz zangar a minha pobre Benedita...
Viegas deu de ombros, bonacheirão, e redarguiu:
- Que queres? Gosto de brincar. E a Benedita, com o seu ar de quem toma tudo a sério e detesta brincadeiras, desperta sempre o diabinho da boa disposição que trago dentro de mim!
Levantou-se, procurando uma toalha, e continuou:
- Quando se chega à minha idade, Maria Leonor, há dois caminhos a escolher. O primeiro, o mais seguido, é o da contemplação passiva, da recordação das alegrias passadas, disfarçando a nossa incapacidade para as sentir de novo; o outro, aquele que eu palmilho, é o da alegria decidida e enérgica, tanto mais quanto mais raros e brancos vão sendo os cabelos da nossa cabeça, a alegria que não vem do coração como a dos novos, mas sim a que é produto duma determinação toda cerebral, a alegria que se impõe porque vem donde menos se espera, dos velhos. O primeiro caminho é a impotência declarada de viver; o segundo é a vontade tenaz de não ceder nunca, de aguentar a vida enquanto a morte não chega...
Um suspiro de Maria Leonor interrompeu-o. Atirou a toalha para um dos ombros, puxou uma cadeira e, sentando-se, continuou, pausadamente:
- Sei em que pensas, minha filha! O Manuel morreu. Tudo o que a vida representava para ti, acabou. Com o corpo do Manuel, foram sepultadas também as tuas esperanças. Só te resta a contemplação dolorosa dos seus retratos, o relembrar das suas palavras, a recordação do seu amor. Eis o que pensas, não é verdade?
Maria Leonor acenou afirmativamente e levou o lenço aos olhos para reprimir as lágrimas.
Viegas, sem se mover, continuou:
- E, no entanto, tu estás enganada, Maria Leonor! Perante os dois caminhos, escolheste o da desolação, o da tristeza e da inutilidade. Confessas-te fraca para olhar a vida de frente e recolhes-te na contemplação do teu passado feliz. Queres tirar daí o alimento espiritual dos teus dias futuros, sem veres que isso é a tua morte. Com vinte anos menos, és mais velha que eu, que escolhi o melhor caminho. Eu podia ter, também, sucumbido a um golpe semelhante ao que tu sofreste, podia passar a minha existência inundado de pensamentos inúteis, lembrando a minha mulher falecida. Não o fiz, porem. Resolvi viver. Resolvi deixar a minha morta em paz, pensar nela com uma saudade vaga e, apenas um pouco triste, dedicar um breve espaço da minha vida a amargura de a haver perdido. Ao princípio, custou-me. A felicidade é tão absorvente, habituamo-nos tanto a ela que, quando nos foge, quando no-la roubam, sentimo-nos incompletos como se uma parte essencial do nosso corpo tivesse desaparecido, deixando uma chaga imensa e dolorosa, que não fecha e destila sempre o pus da nossa desventura. Mas como tudo isto é vão, Maria Leonor! Como nós complicamos a extraordinária simplicidade da vida! Como nós atribuímos ao simples correr dum elo da cadeia uma importância tão grande, minha filha! No fundo, é apenas isto: o cessar de uma existência, o apagar duma lâmpada. Os laços do sangue, o hábito, é que complicam esta sucessão, este passar do facho...
Maria Leonor ouvia o médico, imóvel e serena, os olhos secos e brilhantes, recostada nos almofadões, suspensa.
Viegas olhou-a atentamente e, pegando-lhe numa das mãos, de dedos longos, nodosos nas articulações, apertou-a entre as suas, como a uma pomba gelada e entorpecida, e prosseguiu:
- No fundo, ouves, Leonor?, É isto a vida e é isto a morte. Nada mais. Não compliquemos, portanto. É preciso viver. Tens dois filhos que dependem de ti. Se morres, eles estarão condenados. Não descarregues, então, sobre os seus pobres ombros o peso da tua desolação e da tua cobardia de viver. Ensina-lhes que tiveram um pai honrado, que morreu, mas que revive em ti. Oh, Maria Leonor, se nós soubéssemos o que é de facto a vida, a sua natureza íntima, a sua finalidade, não teríamos palavras para exprimir a nossa alegria, para exteriorizar o turbilhão de prazer que a simples lembrança de que se é vivo nos traria!
Interrompeu-se e levantou-se da cadeira. Caminhou para a janela e, de mãos cruzadas atrás das costas, deixou-se ficar olhando longamente o Sol, que subia no céu muito azul, por detrás das nuvens transparentes.
Maria Leonor baixara a cabeça e chorava, tremendo toda, mas sentindo ao mesmo tempo uma calma estranha, um sossego imenso invadirem-lhe o corpo.
Viegas voltou da janela e, agarrando, de novo, na toalha que tinha atirado para cima de uma cadeira, acercou-se da cama. Auscultou Maria Leonor com atenção e cuidado. Depois, puxou o cordão que pendia ao lado da cabeceira do leito. Aguardou durante alguns instantes, passeando no quarto, resmoneando palavras ininteligíveis e gesticulando como se falasse com alguém. Maria Leonor seguia-o com um olhar inquieto. A porta abriu-se e entrou Benedita, que, ao ver a atitude do médico, parou, alarmada. Viegas sorriu, piscou os olhos para Maria Leonor e abeirou-se da criada:
- Que me darias tu, pequena, se eu te desse uma notícia agradável? Uma daquelas notícias de pular de alegria?! Por exemplo, que a senhora dona Leonor está quase curada?!
Benedita, que franzira as sobrancelhas, maldisposta, quando o médico começara a falar, juntou as mãos num êxtase ao ouvi-lo pronunciar a última frase, e começou a balbuciar palavras sem nexo, tremula, exaltada, sentindo uma louca vontade de rir, de rir muito, à gargalhada, acometida dum desejo infantil de saltar ao pescoço de Viegas e de o beijar, muitas vezes, até perder o fôlego. Nada disto fez, porém. As mãos, que juntara, como para rezar, procuraram, vacilantes, uma cadeira, onde se apoiaram. Chorou.
Viegas, que lhe seguira a transmutação da fisionomia, ao vê-la comovida e a chorar, bateu nervosamente com as mãos uma na outra, sentindo-se também impressionado, e começou a falar em voz muito alta:
- Ora esta! Benedita, então o que é isso? Não chores, mulher. Mas... e continua!... - Pequena, então... Sossega! Não te encostes aí, tem cuidado!...
Benedita afastou-se vivamente do móvel a que se encostara e, lembrando-se da cena da estatueta, não pôde deixar de sorrir por entre as lágrimas:
- Não é nada, senhor doutor. Já passou.
E voltando-se para Maria Leonor:
- Minha rica senhora, que bom vai ser vê-la curada! Como se sente agora?
Maria Leonor, que olhava absorta para o médico, respondeu:
- Sinto-me bem, Benedita. E tão calma, tão sossegada, como já há muito tempo não estava...
Dirigindo-se a Viegas, perguntou com uma voz que se esforçava para tornar firme:
- Quando posso deixar esta cama?
- Depois de uns quinze dias de bom repouso, podes levantar-te quando quiseres.
Acentuou intencionalmente as últimas palavras e repetiu:
- Repara bem, Leonor, quando quiseres!...
Despediu-se e saiu, fazendo um sinal a Benedita para que o seguisse. No corredor, manteve-se silencioso, mas, quando chegou ao patamar, parou, virou-se para a criada, pôs-lhe uma das mãos, fortes e duras, num braço e apertando-lho com afecto, disse:
- A senhora deve-te a vida, Benedita!
Os olhos da criada abriram-se, espantados de incompreensão, enquanto na cabeça lhe passava a súbita ideia dum milagre, produzido pelas suas orações, pelas rezas fervorosas que balbuciava, trémula de frio, nas longas noites de vigília à cabeceira da ama.
O médico continuou:
- Sim, é a ti a quem a senhora deve a vida. As probabilidades de cura eram mínimas. Os meus remédios apenas te ajudaram...
Benedita, compreendendo, enfim, agarrou as mãos do médico e beijou-lhas. Enquanto o fazia, lembrou-se do dia em que beijara o anel dum bispo que visitara a quinta. Sentiu um arrepio, como se estivesse cometendo um sacrilégio. Murmurou, por fim:
- Oh, senhor doutor, por quem é! Não sei como agradecer a sua bondade...
- Muito simplesmente: ajudando-me a completar a cura. O corpo já está salvo. Precisamos agora de lhe curar o espírito, de lhe dar o gosto da vida, que ela perdeu com a morte do marido. Compreendes?
- Sim, senhor doutor, percebo perfeitamente!
Viegas retomou o seu ar bonacheirão e, despedindo-se com uma leve palmada na face de Benedita, desceu a escada e saiu.
A criada, sozinha, juntou as mãos repetidas vezes, olhou em redor da casa, como se procurasse qualquer coisa, e de repente desceu também a escada, à pressa, e no andar de baixo, depois de atravessar várias salas, irrompeu na cozinha, cheia dos trabalhadores da lavoura, que tinham vindo ao almoço.
- A senhora está boa! A senhora está curada!
Os criados, que tinham suspendido o que faziam quando da entrada violenta de Benedita, ouvindo aquelas exclamações, entreolharam-se, sorrindo primeiro, e logo depois começaram todos a falar ao mesmo tempo, batendo com as colheres nos pratos de estanho, sentindo que não podiam já engolir um bocado sequer.
Levantaram-se, rindo, galhofando, com grossas palmadas nas costas uns dos outros, e saíram. O Sol, já alto, brilhava, fulgurante como um disco de oiro, no céu límpido, um céu de bom tempo, que mandava trabalhar e que lhes atirava sobre as cabeças morenas jorros de luz, que depois caíam no chão como um mar luminoso, estendido a perder de vista, um mar em que as vagas eram as colinas e os cerros que levantavam ao redor.
Puseram as enxadas aos ombros e partiram, alegres, para o trabalho. À porta da cozinha, as mulheres viam-nos caminhar, perdendo-se pouco a pouco nas dobras do caminho, e acenavam-lhes largos adeuses.
Depois, já outra vez dentro de casa, uma delas alvitrou, receosa, que fossem ver a senhora. Benedita, ciumenta, tentou primeiro impedi-las, mas, reprimindo o seu egoísmo, seguiu-as pelas grandes salas desertas e frescas, até ao quarto de Maria Leonor, que dormia. Despertada pelo ruído dos passos das criadas, Maria Leonor abriu os olhos, estremunhada, e teve, de súbito, a sensação aguda de que já vira antes aquela cena. Procurou lembrar-se, rebuscou confusamente na memória o momento, o dia, o facto, que não encontrava. Por fim abanou a cabeça, afastando o pensamento importuno, e vendo as criadas cercarem-lhe a cama estendeu-lhes as mãos, sorrindo. Logo todas murmuraram, satisfeitas:
- Minha rica senhora!
- Está curada!...
- Como está magrinha!...
- Ora, há-de enrijar agora, se Deus quiser...
- Oxalá!
Depois, por entre o murmurar das últimas frases, saíram, olhando ainda para trás, acenando timidamente, animadas pela satisfação de terem entrado no quarto da patroa e de ela lhes ter estendido as mãos. Benedita ficou.
Maria Leonor, enternecida, murmurava:
- Como são boas!...
- E como estão contentes, minha senhora! Não calcula o que foi naquela cozinha quando lhes disse que a senhora estava curada. Pareciam doidos, eles e elas. O que será, então, quando a virem de pé?!...
Interrompeu-se, ao ver entrar Teresa, vergada ao peso duma grande bandeja repleta de acepipes, onde fumegava uma enorme tigela de leite. Benedita olhou para a ama, estupefacta, e voltando-se para a companheira perguntou:
- Mas que é isto, ó Teresa? Que ideia foi está?
Teresa, enrolando e desenrolando, atarantada, um guardanapo, respondeu, com os olhos baixos:
- Foi a Joana, a cozinheira. Disse-me que, uma vez que a senhora estava curada, podia comer de tudo. E, então, arranjou isto e mandou-me vir trazer à senhora!...
Benedita, indignada, encolhia os ombros, batia com a ponta do pé no sobrado e preparava-se para expulsar do quarto a pobre Teresa e a bandeja, quando Maria Leonor, que sorria, divertida, acudiu:
- Espera, Benedita, espera! Realmente sempre como qualquer coisa. Estou com apetite.
Teresa deitou um olhar triunfante a Benedita e dispunha-se a servir a ama. A outra, porém, tirou-lhe a bandeja e, pondo-a na beira da cama, recomendou:
Mas, então, minha senhora, beba só o leite! Não coma nada do que aquela doida da Joana lhe pôs, que lhe poderá fazer mal.
- Pois sim. Beberei só o leite.
Benedita olhou para Teresa e, ao vê-la murcha e desesperada por ter sido espoliada do prazer de servir a senhora, arrependeu-se do seu gesto e disse-lhe mansamente:
- Olha, ó Teresa, serve aqui a senhora, enquanto eu vou buscar uma toalhinha. Mas tem cuidado, não a queimes...
Teresa aproximou-se, devagar, temendo um engano, mas ao ver que Benedita falava sério sentiu tamanha alegria que, ao segurar a bandeja, lhe tremiam as mãos e quase entornou o leite sobre a cama. Servir a senhora no seu quarto, fazer o que só a Benedita podia fazer, enchia-a duma tal satisfação que tinha ganas de saltar!
Conteve-se, no entanto, muito sisuda, e quando Benedita voltou com a desnecessária toalhinha, já se acalmara completamente e, com um ar todo cheio de gravidade e doçura, dava o leite à patroa.
Depois de Maria Leonor ter bebido, Teresa levou a bandeja silenciosamente. Benedita cerrou as persianas das janelas e o quarto mergulhou numa penumbra doirada, que boleava as arestas dos móveis e multiplicava as sombras.
Maria Leonor aconchegou-se na cama e, voltando-se para um lado, preparou-se para dormir.
Nos bicos dos pés, Benedita atravessou o quarto e saiu fechando a porta atrás de si, cautelosamente. No silêncio luminoso que envolvia a casa e entrava nas salas, os seus passos soavam claros e nítidos. Ia descer a escada, mas, fazendo um gesto de quem se lembra, de súbito, de qualquer coisa, retrocedeu. Ao atravessar uma sala, ouviu por detrás duma porta uns rumores abafados, donde brotavam, mais vivos, baques estrondosos e risinhos alegres e finos. Abriu a porta de repente e recuou, assustada, diante dum grande almofadão, que voava pelos ares direito a si. Estendeu os braços para a frente e abriu as mãos, tentando desviar a montanha de penas que lhe desabava em cima. Agarrou o almofadão, e dando ao rosto e à voz uma expressão indignada exclamou:
- Parece impossível, meninos! Que desalinho que vai nesta casa! Esqueci-me de vos vir levantar e entretiveram-se a jogar o soco com as almofadas. Olhem para isto!
Isto era um quadro encaixilhado, representando uma fonte com dois pombos a beber na bica cristalina, que pendia da parede, de cabeça para baixo. Os pequenos, encostados um ao outro, com as mãos comprometidamente escondidas atrás das costas, olhavam de revés para o gesticular de Benedita, que diligenciava repor o quadro no seu lugar justo e equilibrado. A rapariga, com o lábio inferior tremente do choro prestes a rebentar, encostava-se ao irmão, que franzia as sobrancelhas finas e castanhas.
Benedita voltou-se para ele e disse, tentando manter o tom zangado da voz:
- Que a menina, que é tão pequenina, goste de brincar, vá, mas que o menino Dionísio, um homenzinho, faça este arraial, é que não é bonito. O que diria a mãezinha se os visse assim?
Enquanto falava, ia pensando que a patroa não se zangaria tanto quanto ela dizia, se visse a brincadeira dos filhos. O mesmo pensava Dionísio, com certeza, porque, dando um passo à frente da irmã, como se quisesse defendê-la da rabugice da criada, respondeu:
- A mãezinha não se zangava! - e logo continuou: - Ela está doente, não se zangava! Tu é que estás zangada!...
Benedita curvou-se e, passando os braços por baixo das pernas das crianças, levantou-as ao colo, apertou-as ternamente contra o peito, e disse:
- Eu não estou zangada, estava a brincar... E a mãezinha já está boa.
Dionísio deu um salto em cima do braço da criada e, puxando-lhe o cabelo, exclamou:
- Verdade?
Júlia batia palmas e pulava no outro braço de Benedita, que se atrapalhava para segurar as duas crianças. Acabou por pô-las no chão, derreada, e logo, um atrás do outro, os dois irmãos improvisaram uma marcha triunfal à volta do quarto, erguendo sobre as cabeças um lençol enrolado e cantando uma canção composta naquele momento, cujo motivo principal era a mamã. Nas variações, entrava a Benedita como desmancha-prazeres.
Por essa altura, a desmancha-prazeres levava as mãos à cabeça, atordoada com a gritaria, e implorava silêncio:
- Calem-se, meninos, calem-se! Olhem que a mãezinha está a dormir e, se a acordam, piora!
Ouvindo dizer que a mãe piorava, as crianças pararam e, deitando o lençol para o chão, acusaram-se mutuamente de todo aquele barulho:
- Foste tu, Júlia!
A pequena negava com veemência, agitando os cabelos loiros, que lhe caíam em canudos até aos ombros:
- Não fui eu, não senhor! - e voltando-se para Benedita: - Pois não, Benedita?
A criada sorriu e acabou dizendo:
- Não foi nenhum, pronto, se querem! E vão-se lavar, depressa, senão digo à mamã que fizeram esta algazarra!
Os pequenos correram para os lavatórios, ao canto do quarto, e daí a pouco a água escorria pelos pescoços finos e torneados, e salpicava o chão, molhando na trajectória as saias de Benedita, que ajudava, com as suas mãos vigorosas, a lavagem.
Depois de lavados, a criada penteou-os rapidamente, não acedendo aos rogos de Júlia, que exigia a marrafa mais bem feita. Dionísio descompunha a irmã, chamando-lhe vaidosa e toleirona, beliscando-a.
Saíram. As crianças, agarradas às saias da criada, pulavam de pura alegria. Dionísio estacou de súbito, e voltou-se para Benedita, dizendo que queria ir ver a mamã. Que se ela estava boa, já podiam ir vê-la. Benedita recusou, alegando que a mãezinha estava a descansar e que não deviam ir incomodá-la. O pequeno resignou-se de mau humor e, largando a saia da criada, desceu sozinho para o rés-do-chão. Júlia seguiu também atrás dele, com a cabecinha orgulhosa levantada, fingindo não reparar em Benedita que, ao vê-los caminhar para a porta exterior, recomendou:
- Não, não saiam ainda! Querem ir para a quinta sem comer? Ora vão a cozinha e digam a Joana que lhes dê o leite, girem!... Hoje não comem na sala.
Os pequenos olharam-se, indecisos, com vontade de desobedecer à ordem, mas, como sentissem já nos estômagos um protestar de fome, voltaram atrás e foram à cozinha.
Joana, gorda e rubicunda, agitava-se no meio das panelas fumegantes. Ao ver entrar as crianças, mostrou a dentadura num sorriso radioso e saudou-as, com a voz aflautada com que a natureza a dotara:
- Bons dias, meus queridos meninos! Querem o leitinho, não é? Esperem um bocadinho. É um instantinho enquanto aquenta.
Encheu uma leiteira e, virando-se para Dionísio, quis saber:
- Então a mãezinha já se levantou?
O pequeno carregou a expressão e respondeu de mau modo:
Não sei! A Benedita não nos deixou ir vê-la. É tão má... Quando eu for crescido,
hei-de obrigá-la a fazer o que eu quiser...
Cuspiu para o lado e resmungou:
- Peste!
Joana, escandalizada, olhou para ele e perguntou, repreensiva:
- Ó menino, então isso diz-se? Onde foi aprender isso?
- Ora! Ouvi o Manuel da Barca. Que mal tem?
- É feio, pois então!...
Júlia tinha ido para a porta da cozinha e seguia, com os olhos extasiados, um grande bando de pombos, que voava muito alto, batendo as asas sob o esplendor da luz do Sol. Dionísio foi para junto da irmã, e os dois, com os olhos muito abertos e o pescoço torcido, seguiram atentamente as largas curvas que as aves traçavam no espaço.
Joana tirou do lume o leite quente e chamou-os para dentro. Sentaram-se a uma ponta da grande mesa da cozinha, onde raramente comiam. Repetiram o grande prazer de contar as nódoas de vinho que alastravam na madeira e os buracos das pontas das navalhas que os trabalhadores ali espetavam enquanto comiam e bebiam. Depois de ingerido o leite, saltaram dos bancos altos e correram para fora, aos pulos, gritando quando escorregavam na terra molhada. O Sol reverberava nas poças de água e secava os sulcos da lama vermelha do chão. Quando passaram no local onde estivera o palheiro que, ainda na véspera, tinham visto, grande e pesado, transudando a tentação esquisita das suas paredes enormes atulhadas de palha até às telhas, pararam, espantados, olhando com terror os muros enegrecidos, as traves carbonizadas, a grossa viga mestra mostrando apenas uma ponta encravada num resto de parede.
Um garotito descalço, que se aproximara, disse, perguntado por Dionísio, que fora uma coisa que caíra do céu que queimara o palheiro. Júlia olhou para cima e tornou a ver lá muito alto o bando de pombos batendo as asas num movimento constante e incansável. Pôs-se nos bicos dos pés e segredou ao ouvido do irmão:
- Oh, Nísio, teriam sido os pombos?
O pequeno encolheu os ombros, atrapalhado, sentindo perigar o seu prestígio junto da irmã. Foi o garotito que, embora disso inconsciente, o salvou. Procurando outra informação para dar, acabou por dizer:
- Foi de noite...
Dionísio voltou-se para a irmã, decidido, e rematou:
- Ora aí está! Não foram os pombos, porque os pombos não voam à noite!
Júlia não se deu por suficientemente esclarecida e insistiu:
- Então, quem foi?
O irmão fez um gesto de impaciência e retorquiu, pensando que a irmã era uma perguntadora insuportável:
- Não sei! Como queres que eu saiba, se estava a dormir?
- Pergunta...
Dionísio não encontrou melhor resposta que voltar as costas à irmã e ao palheiro, deitando de caminho um olhar furioso ao garoto descalço, causador inocente daquele embaraço. Júlia seguiu-o, de má vontade, virando-se para trás de vez em quando para mirar os restos do palheiro.
Caminharam calados durante algum tempo, até que Júlia, incapaz de se conter, cortou o silêncio para dizer que, com certeza, os ratos tinham morrido todos. O irmão, contente por poder dar uma resposta definitiva, respondeu que lhe parecia que sim, que só ela era capaz de fazer semelhantes perguntas. A pequena amuou e, quando Dionísio largou a correr atrás duma borboleta, não o seguiu. Mas quando ele voltou, com os dedos manchados do pó esbranquiçado das asas do insecto, que esmagara, zangou-se. Que mal tinha feito a borboleta?
Não podia correr atrás dela, sem a matar? E depois a Benedita é que era a má?! Que visse, nunca a Benedita tinha matado uma borboleta, e muito menos branca.
O irmão defendeu-se, dizendo que a criada, no Natal, tinha ajudado a matar o porco e que isso devia ser pior, porque o porco fizera muito barulho, enquanto a borboleta não dissera nada.
Perante a lógica terrível daquela resposta, Júlia calou-se e deixou o irmão avançar à frente. Atravessaram um canto do pomar, onde tinham sido plantadas laranjeiras, que se elevavam, direitas, no chão molhado e remexido. Por um pequeno portão engastado no muro saíram para o campo aberto. Entre o mato serpeava até à aldeia um carreirinho tímido, que, por vezes, se afogava nas poças de água que o interrompiam.
Dados os primeiros passos, Dionísio, de súbito, deixou o carreiro lamacento e endireitou ao mato rasteiro. Júlia deixou-se ficar, batendo os pés para sacudi-los da lama, sem se atrever a seguir o irmão, que ia já longe, levado pelo entusiasmo da corrida, saltando as moitas baixas de tramagueira, atrás das quais desaparecia por instantes, para logo surgir mais além. Olhou em redor, indecisa.
Atrás de si, levantava-se um valado verdejante, com pequenas oliveiras de espaço a espaço. Para a frente, o campo sem fim, cintilante das gotas de água suspensas das plantas baixas e das árvores, com grandes placas luminosas nos sítios inundados. Júlia sentiu-se abandonada. A aldeia aglomerada em volta da igreja ficava-lhe à direita. Para além das últimas casas, uma linha verde de choupos esguios e de salgueiros atarracados denunciava o rio. Era para ali que o irmão corria, com certeza: havia lá um barco quase apodrecido, ancorado, com as tábuas do casco verdosas e escorrendo humidade, onde passavam as manhãs, vendo nadar na água transparente os peixes pequenos e brilhantes que Dionísio teimava em pescar com uma linha que escondiam num buraco, entre duas pranchas desconjuntadas.
Gritou. A voz, clara e fina, elevou-se no ar límpido, voou por cima do mato e dispersou-se na distância.
O irmão ia já muito longe para que a pudesse ouvir. A sua cabeça loira brilhava ainda, mas ia desaparecer por detrás dos outeiros que, deste lado do rio, protegiam das cheias a aldeia e os campos.
Júlia sentou-se sobre uma grossa raiz de oliveira, soluçando amargamente pelo abandono de Dionísio. Não queria voltar para casa, mas o achar-se só, no meio daquele deserto, assustava-a. Um golpe de vento, abanando os ramos da árvore, atirou-lhe para cima grossas gotas de água, que a arrepiaram. Olhou tristemente para os sapatos enlameados, pensando que nessa altura já o irmão tinha chegado ao rio, subira pelo tronco inclinado do freixo cortado que pendia sobre o barco e, depois de se deixar cair dentro deste, metera a mão entre as duas pranchas e tirara a linha e o anzol para pescar. Quem sabe, mesmo, se não teria já apanhado um daqueles peixes mais bonitos, que nadavam devagar, com lentos movimentos da cauda, passando sob o barco, ocultando-se na sombra da quilha para aparecer do outro lado, nadando sempre e mantendo-se, por vezes, imóveis contra a força da corrente?
A esta ideia, levantou-se dum salto e, depois dum momento de indecisão, diante do mato agressivo, onde cresciam numa abundância ameaçadora grandes maciços espinhosos, ensaiou os primeiros passos, reprimindo a dor que lhe causavam as hastes grossas e os picos agudos das plantas.
No meio do campo, já as pernas esfoladas tinham um aspecto lamentável. Mas continuou a caminhar, puxando vigorosamente os pés, que se embaraçavam nas raízes à flor da terra.
Chegando, enfim, as primeiras elevações do terreno, nuas de vegetação, subiu-as dum fôlego e, lá em cima, enquanto olhava o rio que deslizava ao fundo do pequeno vale, entre as árvores, esfregou as pernas doridas e arranhadas. Procurava o freixo inclinado onde estaria o desejado barco. Nunca tinha vindo por aquele sítio e estava desorientada. Descobrindo, por fim, a árvore, desceu a ribanceira a correr.
Ao aproximar-se, diminuiu o passo e, pé ante pé, chegou ao tronco rugoso do freixo. Os salgueiros que cobriam a margem não a deixavam ver o barco; ouvia apenas o contínuo chape-chape da água deslizando nas tábuas submersas. Abraçou-se ao tronco do freixo e, agarrando-se aos ramos, começou a trepar. Passou por entre as longas ramadas dos salgueiros e, depois de afastar as últimas que formavam, à sua frente, uma cortina longa e verde, viu, em baixo, o barco. Ligada por uma corrente ferrugenta a margem e amparada a uma estaca cravada no fundo do rio, a velha caçadeira mantinha-se imóvel.
Deitado sobre a proa, e com os olhos fitos na profundidade, estava Dionísio. Não dera pela chegada da irmã. Júlia, escarranchada no tronco, viu na água límpida um peixe, branco e brilhante, nadar para o anzol. As pernas de Dionísio estenderam-se, nervosas, e os olhos arregalaram-se-lhe na ânsia de verem o peixe abocar a armadilha, sacudir a linha desesperado para fugir e enterrar o anzol cada vez mais, nas guelras, até ser puxado para fora, estrebuchando.
O peixe, porém, não se decidia. Nadava em volta do isco, batendo-lhe com a cauda quando se afastava, mas voltando logo, mordiscando de leve, fazendo oscilar a bóia de cortiça. Júlia, lá em cima, impacientava-se. Queria saltar para o barco, mas o barulho da queda afugentaria o peixe e Dionísio ficaria zangado. Pensando nisto, achou que não era má partida fazer com que o peixe fugisse. Não a tinha o irmão deixado ficar sozinha no mato?!
Em baixo, o peixe continuava a mordiscar o isco sem se decidir a engoli-lo de uma vez. As pernas nuas de Dionísio tremiam de impaciência. Se a água não fosse tão clara, a pesca resultaria sempre. Mas ver os peixes no fundo, em volta do anzol, acabava por lhe fazer perder a cabeça e obrigava-o a mexer-se, furioso.
Depois duma volta lenta, o peixe aproximou-se do anzol, Com todo o ar, ao que parecia, de ir abocá-lo. Imediatamente, Júlia deixou-se escorregar do tronco e depois de ficar suspensa durante alguns segundos, oscilando sobre o barco, deixou-se cair.
Sob o peso, a caçadeira mergulhou um pouco, as velhas tábuas rangeram. O peixe fugiu.
Sobressaltado, Dionísio voltou-se e, vendo a irmã que olhava para ele, desafiadora, com o petulante queixinho erguido, as pernas feridas, o vestido molhado e amarrotado, ia zangar-se, ralhar, mas ela antecipou-se:
- Deixaste-me sozinha e eu espantei-te o peixe! Estamos pagos.
O irmão, silenciosamente, deu-lhe as costas e puxou a linha. Sentou-se na borda do barco e começou a enrolar entre as palmas das mãos uma bolinha de pão para novo isco. As pontas dos ramos dos salgueiros, mergulhadas na água, moviam-se alternadamente para cima e para baixo, ao sabor da aragem. Um guarda-rios, de asas azuis, passou, quase rasando a água com o peito.
Dionísio pôs de parte a linha e o pão e tirou do bolso um canivete. Debruçou-se sobre a popa da caçadeira, quase encostada à margem, e cortou uma verdasca dum dos salgueiros. Esgalhou-a toda, deixando ficar, apenas, na ponta, duas folhas pequenas dum verde ferrugento e tenro, e deu-a, timidamente, à irmã.
Era a paz. Sempre que iam ao rio, cortava um ramo para Júlia e, ao fazer o mesmo agora, apresentava simbólicas desculpas.
Júlia, radiosa, agarrou a verdasca e ficou a olhar, embevecida, as duas folhas que o irmão deixara ficar. No meio delas, abrigavam-se duas outras, mais pequenas, quase brancas, enroladas sobre si mesmas, condenadas a não crescerem mais.
Dionísio, entretanto, voltara ao isco e ao anzol. Estendeu-se outra vez na proa e atirou a linha à água, que se afastou em círculos cada vez maiores, até às margens, donde voltou em ondulações espaçadas, quase imperceptíveis. Júlia deitou-se ao lado do irmão. No fundo do rio, o isco de pão era uma mancha branca que brilhava como uma jóia. Uma nuvem passou debaixo do Sol e as águas tornaram-se sombrias. Júlia olhou para o céu, onde apenas aquela nuvem passava escurecendo cada vez mais o rio.
De repente, a bóia de cortiça mergulhou, sacudida bruscamente. Dionísio, de um salto, pôs-se de pé e puxou para fora a linha, que emergia aos estremeções.
À flor da água surgiu a cabeça branca dum peixe, que lutava, desesperadamente, para se manter no seu elemento. Um puxão mais e, descrevendo no ar um traço brilhante, o peixe caiu dentro do barco, saltando e batendo as barbatanas na água do fundo.
Júlia pulava de contente e batia palmas, enquanto o irmão arrancava o anzol das guelras do peixe, um barbo esguio e comprido que se lhe debatia entre os dedos.
Dionísio, entusiasmado, preparava-se para atirar de novo a linha à água, quando, trazidas pelo vento, ouviu as doze badaladas do meio-dia, dadas pelo relógio da torre da igreja. Olhou, aborrecido, para a irmã:
- Temos de ir, Júlia.
- Pois temos! A Benedita, se calhar, já anda à nossa procura.
Vamos.
Cortou uma forquilha dum ramo e suspendeu nela o peixe pelas guelras. Subiram para o freixo e, depois de se arranharem a descer a árvore, treparam novamente a ribanceira, levando o barbo já morto, que roçava a barbatana da cauda pelo chão. Descendo até à aldeia, ganharam a estrada que levava à quinta. Deitaram a correr pelo caminho fora, porfiando por chegar um antes do outro a uma das árvores do caminho, depois a outra, rindo de alegria, com o peixe suspenso, moído, as guelras rasgadas.
Quando entraram o portão, viram ao fundo da alameda, junto da porta da casa, dois homens. Eram Jerónimo e António Ribeiro. Precipitaram-se sobre o tio.
- Olhe, olhe, tio António! Um peixe, um peixe!... Pescámos no rio!
Benedita, que assomara à porta, atraída pelo estrépito da Chegada, levou as mãos à cabeça e exclamou:
- Então os meninos foram para o rio? E todos esfolados, todos sujos!... Que bonito, sim senhores! A mãezinha a perguntar pelos meninos e eu sem saber o que responder!
Ao ouvirem dizer que a mãe tinha perguntado por eles, os dois irmãos coraram e baixaram a cabeça sob a repreensão. Que parecia impossível, a mãezinha ainda na cama e os meninos sem quererem saber dela! Perante tal acusação, Dionísio largou o peixe e entrou em casa a correr, seguido pela irmã, que se esforçava por não ficar atrás, para que o irmão não tivesse o prazer de chegar primeiro ao pé da mãe...
Apesar das prometedoras esperanças de Viegas, a convalescença de Maria Leonor foi longa. Várias vezes quinze dias se passaram antes que ela, amparada, ensaiasse no quarto os seus primeiros e trémulos passos, vendo os móveis girarem no quarto e o quarto com eles, sentindo a cabeça rodopiar doidamente, tendo a humilhadora sensação de não poder mover o próprio corpo. Que de esforços lhe custou a satisfação do simples desejo de chegar à janela para estender as mãos fracas e magras aos raios quentes do sol de Junho, que lhe inundava o quarto, donde, com o lento regresso da saúde, desaparecia o persistente cheiro das tisanas e dos xaropes a que o seu corpo fatigado devia a vida!
Estendida numa longa cadeira de verga, no terraço da casa virado ao poente, passou as doiradas manhãs daquele verão, que chegava quente e criador. Dali, ouvia, em baixo, o monótono chiar dos carros de bois que passavam para a eira, onde os manguais subiam e desciam, fazendo saltar da espiga pulverizada o grão de trigo já seco.
E à tardinha, quando o campo se enchia de sombras e o verde-escuro das árvores se transmudava, pouco a pouco, em negro, levantava-se da sua cadeira junto da janela do quarto de dormir, para onde ia repousar nas horas em que o calor apertava e, em passos incertos, atravessava o aposento e deixava-se cair, exausta, sobre a cama, com uma indefinida angústia a pesar-lhe no peito e um tremor de membros que a fazia desfalecer languidamente, afundar-se nos colchões macios e brandos.
No quarto, donde a luz do Sol ia fugindo, tocava, então, a campainha, que soava, mansa, pelo corredor fora. Benedita vinha deitá-la. Despia-se devagar, desejando vagamente cair no chão e deixar-se ficar ali, meio despida, sentindo sobre os ombros avançar a sombra da noite, vê-los apenas como uma mancha branca e indecisa, desaparecendo aos poucos.
Experimentava com os pés nus a aspereza do tapete, quase a deitar-se nele, roçando a pele nos grossos fins como num cilício. E quando se deitava, sozinha no quarto, porque não consentia que Benedita a velasse, levantava os braços magros e, inconscientemente, ficava contemplando os sulcos esbranquiçados que traçavam na escuridão, abrindo e fechando as mãos como se a quisesse apalpar. De todos os cantos do quarto surgiam, depois, formas confusas, que se moviam e caminhavam para o leito, rolando sobre si mesmas e virando para ela sempre o mesmo aspecto, listas negras sobre um fundo amarelo. Tudo isto se transformava, com rapidez, em cruzes que enchiam o quarto de alto a baixo e desabavam, silenciosamente, como fantasmas.
De madrugada, acordava com um suor frio a humedecer-lhe a pele. E de novo, de toda a parte, via aparecerem as manchas amarelas riscadas de negro, rolando e subindo para os pés da cama, donde caíam sobre os lençóis como uma cascata silênciosa. Era sempre o mesmo pesadelo. Quando as cruzes lhe caíam sobre o estômago sufocava, como se estivesse sendo apertada entre gigantescas mãos, e soltava um débil grito amortecido pelos dentes furiosamente cerrados na dobra do lençol. Apalpava, então, a cama ao seu lado e suspirava.
Quando a manhã nascia, clara e alegre, caía num sono profundo, imóvel como uma pedra, com umas largas olheiras a sombrearem-lhe as faces, os cabelos soltos no travesseiro, destapada, fria, com o peito desnudado, onde uma gota de suor ainda brilhava. Era assim que Benedita a vinha encontrar todas as manhãs. Vestia-a e ela recomeçava a sua rotina de doente, recebendo o médico, ouvindo o palestrar do cunhado, vendo brincar os filhos, dormitando sob a calma silênciosa e quente da tarde, sem ânimo para falar, preguiçosamente despenteada, enrolando e desenrolando nos dedos um anel dos cabelos.
Às vezes, lembrava-se das palavras de Viegas, recordava a calma que sentira ao
ouvi-lo e a vontade imensa de agir que elas lhe tinham despertado. Quando isto sucedia, as mãos crispavam-se-lhe nos braços da cadeira, como se quisesse experimentar a rijeza dos músculos, mas logo as deixava cair no regaço, indiferentes, esgotadas pelo esforço. Sentia em volta de si os cuidados de Benedita, o carinho dos filhos, a atenção do cunhado, que por vezes se esquecia a olhá-la, abstracto, mas tudo isto confusamente, como num sonho.
Viegas, quando a visitava, espantava-se com aquela insensibilidade, aquela indiferença que se comprazia na contemplação dos objectos imóveis, como se lhes estudasse as formas ou a razão de ser da imobilidade. Desesperava-se com a sua impotência para arrancá-la daquela apatia que a desgastava e perguntava a si próprio, perplexo, que estranhas forças a tinham salvo da doença e a atiravam agora para um estado quase embrutecido, sem chispa de espírito que a animasse.
Já se espalhava na quinta que a senhora «não estava boa)), que estava embruxada. E havia quem garantisse que o raio que caíra no palheiro fora o sinal do demo para que ela entrasse naquelas aflições. Benedita zangava-se ao ouvir tais crendices murmuradas na cozinha, à hora da ceia, entre as criadas, que interrompiam o mastigar das migas para responder que a quem não acreditava é que aquelas coisas sucediam. Teresa e Joana, timidamente, refutavam, punham-se ao lado de Benedita, mas as outras asfixiavam-nas com citações de casos acontecidos a muita gente, com uma tal frequência, em tal abundância, que se diria que todos os seus conhecidos estavam possessos de alminhas penadas ou de demónios rabudos e escoicinhadores.
Enquanto na cozinha as criadas discutiam a influência do diabo e das bruxas nas mortais vidas humanas, Maria Leonor, no quarto, lutava, desesperadamente, com os seus pesadelos e os seus fantasmas.
Quis uma luz consigo, mas mandou-a tirar depois, porque as sombras dos móveis assustavam-na e, então, levantava-se, de vela na mão, para alumiar todos os recantos sombrios, como se quisesse encher o quarto de luz. Logo que passava de um canto para o outro, o anterior ensombrava-se imediatamente, e ela dava voltas constantes ao aposento, alumiando aqui e ali, até a vela se gastar nos dedos. Ficava hirta, no meio do quarto escuro, vendo, de novo, avançarem do chão, do tecto, das paredes, as manchas amarelas riscadas de negro, erguendo-se transformadas em cruzes, e cair sobre ela numa chuva continua de vigas grossas e sombrias. Corria para a cama, apavorada, gemendo, e escondia a cabeça entre os lençóis, como uma criança.
Uma tarde, quando Maria Leonor estava sentada, como habitualmente, à janela com a cabeça descaída, as mãos abandonadas no regaço, olhando, abstracta, a linha castanha do rodapé do quarto, a porta abriu-se e entrou Benedita. Maria Leonor levantou os olhos para ela, mas logo os baixou, com indiferença. A criada parou a poucos passos da ama e, de pé, deixou-se ficar, olhando-a atentamente. Maria Leonor levantou, outra vez, o olhar, onde perpassou uma expressão interrogativa, a que a criada respondeu com o mesmo silêncio obstinado. Já inquieta, moveu-se na cadeira, contraiu nervosamente as mãos. Perguntou:
- Que queres?
Benedita descerrou os lábios e retorquiu, muito fria e calma:
-Nada, minha senhora! Nada, a não ser lembrar-lhe que faz hoje três meses que morreu o senhor Manuel Ribeiro!
Maria Leonor endireitou-se, animada, batendo com o pé no chão:
- Cala-te, cala-te, mulher! Que tens tu que ver com isso?
- Que tenho que ver com isso? Ora essa! O que toda a gente desta casa tem!... Tenho que foi uma desgraça ele ter morrido, porque esta casa vai de mal a pior e não tardará muito que estejamos todos na rua, sem eira nem beira, porque ninguém se importa com o trabalho, visto que a dona da casa passa os dias a olhar para as nuvens, sem cuidar de saber se os criados trabalham ou calaceiam! Veja a senhora o bonito estado em que faz andar os meninos! Perderam a alegria, a saúde, andam tão enfiados e amarelinhos que metem dó! Se pergunto o que tem: «É a mãezinha que está doente!>>, e daqui não saem. Veja o grande trabalho que aflige os criados: se vou à horta, já sei que encontro o hortelão a namorar a Rita Branca, numa pândega ferrada. Berro com eles e vem logo a resposta: <<A senhora não vê!>> Pudera! Como há-de a senhora ver se não sai de casa, se entrega aos outros o trabalho que só ela pode fazer?!...
Interrompeu-se, respirando ruidosamente, quase no fim do fôlego, mas recomeçou logo, cortando ao meio o gesto da patroa:
- E ainda a senhora pergunta o que tenho eu que ver com a morte do patrão?! Pois aqui está: já lho disse!...
Calou-se outra vez, agora impressionada, com os olhos borbulhantes de lágrimas, torcendo o lenço entre os dedos, que tremiam. Depois, em voz mais baixa, continuou:
- Quando o senhor Manuel Ribeiro morreu, eu pensei que a senhora iria ser uma mulher de trabalho, que se dedicaria à quinta como o seu marido o fez!... Mas enganei-me, bem vejo... E agora, é isto que está à vista de todos!
Inspirou fundamente e rematou, jogando o último dardo:
- Pois, minha senhora, se faz tenção de continuar assim, eu é que não posso. Vou-me embora!...
Calou-se e ficou, por momentos, a espiar pelo rabo do olho o efeito do que dissera. Mas logo se alarmou: Maria Leonor levantara-se da cadeira, muito pálida, com os cabelos loiros desmanchados sobre os ombros. Precipitou-se para ela, que desmaiava, carregou-a nos braços, deitou-a. Duas grossas lágrimas brilhavam por entre as pestanas de Maria Leonor, duas lágrimas que se desprenderam e lhe rolaram
pelas faces descoradas.
Benedita, inquieta, ia chamar alguém, quando Maria Leonor, com esforço, balbuciou:
- Espera, não chames ninguém!... Vem cá, chega-te mais para ao pé de mim. Escuta: sai, deixa-me sozinha, quero descansar! Tu não compreendes o que eu tenho! Mas tens razão, tens razão!... Vai, anda... Deixa-me!...
A criada, de má vontade, saiu, mas ficou por detrás da porta, à escuta, pronta a irromper no quarto ao mais pequeno ruído estranho. De dentro, porem, só vinha o rumor abafado dos soluços de Maria Leonor. Duas tentativas que fez para entrar foram anuladas por um gesto decidido. Esperou, então, de pé, encostada à ombreira da porta, sentindo dores nas pernas e agarrando-se aos batentes para não cair, com tonturas. Decorreu meia hora e os soluços de Maria Leonor foram-se espaçando pouco a pouco, até deixarem de ouvir-se. Então, Benedita empurrou devagarinho a porta e espreitou. Vendo a ama imóvel sobre o leito, teve um baque horrível no coração, mas depois, ao aproximar-se, verificou, com um suspiro aliviado, que adormecera.
Ainda suspeitosa de qualquer disfarce, debruçou-se sobre Maria Leonor, mas a respiração desta, sempre igual e calma, acabou por sossegá-la. Retrocedendo, pé ante pé, saiu do quarto, que escurecera completamente. Foi deitar as crianças, que brincavam no rés-do-chão, e desceu à cozinha, pensativa, censurando-se pela maneira quase malcriada como respondera à ama e perguntando a si própria se não teria feito mal. Fora, no entanto, o doutor Viegas quem a aconselhara e, apesar do que se tinha passado, tinha confiança. Quem sabe se o médico não tinha razão quando lhe afirmara que só um choque violento e brusco, inesperado, a poderia, talvez, arrancar daquela atonia?
Durante a ceia manteve-se silênciosa, respondendo apenas por monossílabos às interpelações das criadas sobre o estado da senhora. À Joana, que perguntara se a senhora não queria comer, respondera que não tinha apetite, isto com uma voz muito seca e desprendida.
Foi o suficiente para que a boa cozinheira entrasse em largas considerações sobre as consequências da falta de apetite, demorando-se com grande cópia de pormenores na grave eventualidade da espinhela caída. Teresa apoiou-a com descrições aturadas de consumições de espírito e suas curas.
Benedita, mortalmente aborrecida, nem ânimo tinha para as mandar calar. Pensava de novo em Viegas, que a convencera a dar aquele passo. Fora um sacrifício para si, mas falara! E a pobrezinha lá estava em cima, sabe Deus como! A este pensamento, não pôde impedir-se de se levantar e de subir a escada a correr para ver a ama. Riscou um fósforo e acendeu a vela metida na palmatória; olhou para dentro do quarto. Maria Leonor dormia ainda.
Aquela noite foi a primeira, depois de muitas noites pavorosas, em que Maria Leonor dormiu sossegadamente, num sono só, sem pesadelos, sem aquelas horríveis cruzes que lhe caíam inexoráveis sobre a cabeça, como destinos que se cumprissem.
No outro dia, já o Sol ia alto quando acordou. Junto da cama, estava Benedita com o almoço. Olhou para a bandeja fumegante e cheirosa e para a criada, que lhe seguia os movimentos, vigilante. Depois, apertou-lhe as mãos, carinhosamente.
Benedita exultou. E enquanto enxugava as pálpebras húmidas com as costas da mão, dirigiu mentalmente um agradecimento a Viegas. Ele tivera razão. A senhora estava agora ali, animada, diferente do cadáver vivo que se arrastara durante meses.
Quando o médico, por volta do meio-dia, saltou do cavalo à porta da casa, acompanhado por António, viu Benedita dirigir-se-lhe, radiante, com as faces rubras e o gesto ligeiro. Adivinhou que a sua ideia resultara:
- Então a senhora?
- Até parece um milagre, Santo Deus! Iria jurar que nunca esteve doente!...
António, que folgava a cilha do cavalo em que viera montado, voltou-se, surpreendido:
- Como é possível que esteja boa? De um momento para o outro?
Viegas retorquiu, irónico:
- Então, então, António!... Não acreditas na medicina? Nem me pareces um médico!
- Bem sei. Um médico que não nasceu para o ser... já sei! Tem-mo dito bastas vezes. Mas do que a Leonor precisa não é dum médico, é dum padre.
- Para a absolver?
- Não. Para lhe curar o espírito, que sempre necessitou mais cuidados que o corpo.
- Pois parece que desta vez não têm razão de queixa da minha pessoa. Curei-lhe o corpo e, com a ajuda da Benedita, creio que lhe curei o espírito. Não é verdade, Benedita?
Repuxando as guias do bigode, subiu a escada, seguido por António e pela criada, e dirigia-se para o quarto, quando a criada o chamou, apontando-lhe a porta do terraço. Estacaram, admirados. Junto à grade, sentada no seu cadeirão de verga, Maria Leonor ouvia a tagarelice dos filhos, que se agitavam à sua volta, rindo, divertidíssimos, contando-lhe qualquer historieta engraçada, que a fazia sorrir também.
Ao ver os recém-chegados, levantou-se da cadeira e atravessou o terraço, levando atrás de si os filhos, que se atiraram aos braços de Viegas e de António, obrigados a recolher nas faces toda a exuberante alegria que irradiavam.
António, libertando-se de Júlia, que teimava em querer pendurar-se-lhe ao pescoço, apertou a mão da cunhada, perguntando, solicito:
- Então, Leonor? A Benedita disse que te sentias melhor. É verdade?
- É verdade, sim. Julgo que desta vez é que é certo... - Voltou-se para Viegas:
- Não é da minha opinião, doutor Viegas?
Creio que sim. Dei-te, se bem me lembro, quinze dias para te restabeleceres definitivamente. Reconheço que foi pouco. O médico quase nunca conta com o que se passa no espírito do doente, a não ser, evidentemente, em casos psiquiátricos, e portanto os quinze dias foram insuficientes. Foram necessários dois meses. De qualquer modo « c'en est fait » ...
Júlia arregalava os olhos espantados para o médico, num tremendo esforço de compreensão. Quando a mãe se afastou com Benedita e os dois homens, puxou o irmão pela manga da camisa, ansiosa:
- Ó Nísio, ouve cá, o que estava o senhor doutor a dizer? Não percebi nada. Que foi que ele disse?
Dionísio, sobranceiro, com um ar de autoridade esmagadora no encolher dos ombros, respondeu, desprendido:
- Era latim. Tu não percebes...
- Ah! - fez a pequena. E calou-se, sentindo a sua pesada ignorância, sem se lembrar, desta vez, de perguntar ao irmão o que queria dizer aquele latim...
Desde aquele dia, Maria Leonor dedicou-se de corpo e alma à tarefa imensa de dirigir a sua casa. Logo depois da saída de Viegas, mandou chamar o abegão e falou-lhe, a sós, no escritório do segundo andar, durante muito tempo. Queria enfronhar-se nas suas obrigações de proprietária rural, de que andara tão longe durante a vida do marido. A morte dele apanhara-a desprevenida e ignorante e queria compensar o tempo, que perdera antes, com a exaltada pressa de adquirir conhecimentos, que demonstrava agora. Jerónimo, pacientemente, explicava-lhe o que era preciso fazer e o que seria conveniente não realizar antes de tal ou tal tempo, apontava projectos para o ano próximo, indicava obras urgentes, compras a fazer. O bom velho supria a sua falta de cultura vulgar com a prática de cinquenta anos vividos debaixo do sol, cavando a terra, negociando nas feiras, comprando e vendendo gado, vivendo a sua vida de camponês dos quatro costados. E ria, mostrando as gengivas vermelhas e desdentadas, com os entusiasmos de Maria Leonor, agarrada à sua quinta, pensando que, com aquele corpinho de alvéloa, talvez não deixasse lembrar muito o patrão morto.
Maria Leonor, essa, andava exaltada, quase febril, percorrendo a quinta de um extremo a outro, palmilhando as folhas que lhe pertenciam para lá dos muros, ainda cansada, vendo, perguntando, dando tímidas ordens, sentindo gradualmente que a terra lhe ia pertencendo de facto, porque vivia dela, porque a sentia como a sua própria carne, porque a amava com um amor feito de ciúme e de um arreigado sentimento de posse.
Roubarem-lha, agora, seria roubarem-lhe a vida e o pão.
E no mesmo amor que se lhe levantava no peito abrangia os filhos, os camponeses, toda a gente que gritava à volta da quinta, como satélites dum planeta. Quando atravessava a eira para o lagar e via os criados erguerem, à sua passagem, os barretes, numa saudação respeitosa, era como se tivesse voltado aos tempos bíblicos dos patriarcas. E mais e mais alto se lhe levantava o desejo do trabalho.
Às vezes, porém, quando se achava só, o pensamento divagava, as recordações surgiam e a lembrança do marido levava-lhe lágrimas aos olhos, lágrimas que ela escondia como indignas da sua vontade e da sua decisão. A dor enlouquecedora dos primeiros momentos dava lugar, naturalmente, a uma saudade resignada, que se esbatia devagar no fundo sempre igual das preocupações quotidianas. Quase não tinha tempo para pensar no marido. Somente, quando à noite se deitava e distendia os membros cansados, um suspiro lhe levantava o peito, sentindo a solidão pesar-lhe como chumbo. O sono vinha depressa, para passar uma cortina sobre o pensamento e a sensibilidade e ela dormia, sem sonhos, até à manhã seguinte. Levantava-se decidida e embrenhava-se na luta diária com o coração aliviado, a cumprir aquilo a que chamava, brincando, as suas obrigações de senhora de terras.
Assim decorreu todo o Verão. Depois do trigo, chegou a vez ao milho de ir para a eira. E não foi já do terraço da casa que Maria Leonor viu o bate-que-bate dos manguais sobre as maçarocas e que ouviu o alegre silvo da debulhadora cortar o ar fresco da manhã. Foi na eira, no meio das escamisadas bulhentas, entre os altos cones do milho escarolado, que assistiu àquela festa da terra, que era também a primeira festa da sua vida desde que o marido morrera.
Quando chegou Outubro, as crianças voltaram para a escola e a sua ausência durante o dia mais lhe animava a vontade de trabalhar.
À tarde, ao vê-las assomar ao portão ao fundo da alameda, descia a escada precipitadamente e ia abraçá-las com ternura, sentindo que era escrava daqueles pequenos seres e que a sua vida lhes pertencia, mais do que a si própria. Um enternecimento súbito lhe enchia o coração e, às vezes, surpreendia-se agarrada aos filhos a chorar docemente, um choro sem mágoa, que lhe deixava o espírito calmo e leve, numa felicidade indefinível e quieta.
Sorria, ouvindo Dionísio contar-lhe, orgulhoso como um sábio nos princípios da sua ciência, o que fizera na aula, o que o professor perguntara e as respostas que lhe dera.
Segundo ele, não havia na escola quem mais soubesse, a não ser, claro!, o professor. E a alegria do pequeno foi imensa quando pôde, enfim, com verdadeiro conhecimento de causa, explicar à irmã, boquiaberta, por que ardera o palheiro.
E assim, educando os filhos e administrando a propriedade, Maria Leonor viu passarem, iguais uns aos outros, os meses de Verão e, do mesmo modo, começar o Outono. Estava só em casa, além dos filhos e de Benedita. António voltara ao Porto, em Agosto. Era lá que tinha a sua clínica, sempre deixada um pouco ao deus-dará, e só vinha ao Sul quando precisava mudar de ares e de conhecimentos. Divertia-se em Lisboa, onde passava quase todo o tempo, e apenas uma vez por outra se metia no comboio e ia até à quinta brincar com os sobrinhos e passear a cavalo pelos arredores. Gostava de viajar, mas a sua pobreza de médico pouco conhecido e de competência muito vaga limitava as possibilidades deambulatórias às duas cidades do País onde melhor podia passar a vida que lhe aprazia. Viera desta vez para casa do irmão um ano antes de ele morrer, por causa da última questão da reduzida herança paterna, e por lá ficara todo o tempo. Agora partira de novo, disposto desta vez, conforme garantia, a trabalhar com afinco.
Maria Leonor, dedicada à sua quinta, mal lhe sentiu a falta, e as cartas que recebia espaçadamente não lhe lembravam saudades. Continuamente ocupada, só interrompia o trabalho para ir todas as semanas ao cemitério. Ajoelhava ao lado da sepultura, com os filhos perto, e rezava com fervor, sentindo-se justa perante a memória do marido, fortalecida pela recordação do seu exemplo e inspirada pelo desejo de o seguir à risca.
Neste rosário de ocupações, quase tinha esquecido a missa dominical, dita sempre pelo velho padre Cristiano, que todo se alegrava ao vê-la entrar com os filhos a portada esculpida da igreja. Apenas de longe em longe lhe dava agora esse prazer. A própria Benedita resmungava sempre qualquer coisa quando, ao arranjar-se para ir à igreja, via a ama absorta na consulta dum maço de papéis, sem mostras de pretender sair também. Nada dizia, no entanto, apesar de Maria Leonor lhe perguntar por vezes o que tinha. Só uma ocasião respondeu que lhe parecia estranho que o padre Cristiano não aparecesse tantas vezes pela quinta como era costume. A isto, Maria Leonor respondeu que talvez o padre tivesse muito que fazer e que, como a quinta era algum tanto longe do lugar e as pernas já não aguentavam grandes caminhadas, não pudesse aparecer mais.
Foi, portanto, com surpresa que, numa daquelas luminosas tardes com que o Outono se despede do Verão, Maria Leonor viu entrar o velho padre. Recebeu-o com um beijo, que ele aceitou, risonho, e convidou-o a sentar-se. O padre pousou a bengala, deu uma olhadela apreciadora a um pacote de sementes de nabo entornado na mesa, ajeitou-se na cadeira estofada e, depois de inquirir da saúde dos meninos, pergunta desnecessária porque os vira na aldeia, tentou entrar no assunto que o trouxera. Começou por pigarrear estrondosamente e olhou para Benedita, que cirandava na sala, fazendo tempo para ouvir a conversa. Maria Leonor olhava para o padre, atenta, esperando que ele falasse:
- Ora tu, Maria Leonor...
Parou, suspirou atrapalhado, e recomeçou:
- Ora tu, Maria Leonor... Sabes? Tenho que te dizer...
Maria Leonor mexeu-se, inquieta. O padre, vendo-a nervosa, precipitou-se:
- Não, não, não é nada de importância, menina, não te assustes!...
Benedita voltou-se para o padre, admirada:
- Como? Então, não é nada de importância, senhor prior? Não acha que...
- Deteve-se, vendo a ama olhar para si surpreendida, e rematou, apressadamente:
- Bem, eu não sei do que se trata, claro, mas... não sei se vê que... sim... o senhor prior lá sabe, não é verdade?
O padre olhou-a repreensivamente e tornou:
Ora, o que tenho para te dizer é isto, Maria Leonor: não censuro, e Deus me livre sequer de tal pensamento, que te dediques ao trabalho com tanta vontade,
sacrificando-lhe o teu repouso e a tua saúde, para teres esta casa no mesmo pé em que o Manuel a teria se fosse vivo. Mas acho que, ultimamente, tens descuidado, talvez um poucochinho, os teus deveres de cristã. Raramente apareces na igreja, e Deus sabe quanto fico satisfeito em ver-te lá!, e isso francamente não é bonito. Na terra já se fala e...
Maria Leonor, que o ouvira, sorrindo, interrompeu:
- Perdoe-me se o interrompo, senhor prior! Tem razão no que diz e pesa-me que a minha falta o tenha entristecido tanto, mas creia que não entrou, no meu procedimento, qualquer quebra de fé. Dediquei-me, talvez, de mais a esta terra e quase me esqueci de Deus. Mas prometo-lhe, senhor prior, que voltarei à igreja com a mesma fé antiga e para sempre!...
O padre sorriu, satisfeito, esfregando as mãos, e respondeu:
- Pois sim, Maria Leonor, e bem hajas pelo peso que me tiraste dos ombros. Vai quando quiseres. Sabes? O meu receio era que a morte do Manuel te tivesse desgostado a tal ponto que tivesses perdido a fé. Há tantos casos desses...
- Descanse, padre Cristiano, eu voltarei. Não me esqueci de Deus, apesar de ele me ter levado o meu marido.
- Pronto, Leonorzinha, não falemos mais nisto. E perdoa a este velho tonto, que é muito teu amigo. Adeus, Maria Leonor, dá beijinhos aos pequenos!
- Adeus, senhor prior, até breve!
- Adeus e muito obrigado!...
O padre saiu e, lentamente, foi desaparecendo atrás das árvores da alameda, encostado à bengala, gemendo o seu reumatismo, que o picava, agora que se aproximavam os frios e a humidade.
Depois de ele sair, Maria Leonor voltou-se para Benedita, que procurava escapar-se, e perguntou, sorridente:
- Então, agora resolveste pôr-me debaixo de tutela? Não achas que tenho idade suficiente para me governar?
- Não diga isso, minha senhora! Apenas falei no caso ao senhor padre Cristiano e ele prometeu-me que viria falar à senhora.
- Exactamente. Resolveram os dois chamar-me ao bom caminho. Foi uma conspiração muito semelhante àquela que fizeste com o doutor Viegas, não é verdade?
- Quem lho disse, minha senhora?
- Quem mo disse? Ninguém, mas calculei. O doutor Viegas traçou o plano e tu executaste-o, seguindo os velhos preceitos do drama em casos idênticos. Ambos se saíram bem, afinal, felizmente para mim...
Benedita assentiu ligeiramente com a cabeça e aproximou-se da ama. Baixou a voz, quase segredando:
- E sabe, minha senhora? Desde que isso sucedeu, tenho pensado muitas vezes no caso e ainda não vejo mais do que via antes. Já me lembrei até de falar ao senhor prior, mas tenho-me acanhado e não me atrevi...
Curiosa, Maria Leonor indagou:
- Atreveste a quê?
- Ora oiça, minha senhora. Agora que já está curada da sua doença e daquela prostração que a trazia consumida, posso falar-lhe destas coisas. A senhora acertou. Foi o doutor Viegas quem lembrou dizer à senhora o que sabe. Recorda-se, não é verdade? Ora bem. A ideia foi boa, e tanto assim que a senhora está curada. Agora, aqui, é que me confundo. Se o doutor Viegas é, como diz o senhor padre Cristiano, um herege, um homem condenado às penas do Inferno, como pôde o Senhor ter-lhe inspirado aquela ideia? Não seria mais natural ter Deus dado a ideia a quem não fosse um descrente como ele?
Maria Leonor teve um sorriso perante o ingénuo raciocínio da criada. Depois olhou para ela com atenção e respondeu, após alguns instantes de silêncio.
- É essa uma maneira muito simplista de raciocinar, Benedita. Bem vês! Os homens são simples instrumentos de que a vontade divina se serve para cumprir os destinos que demarcou na eternidade. Que importava a Deus que o escolhido para me curar fosse um ateu ou um crente? Deus entendeu que eu devia ser salva e salvou-me. Não podemos perscrutar as razões que levaram a Providência Divina a segurar-me quando eu me despenhava nos abismos da inconsciência e da morte. Foi o doutor Viegas quem me salvou, dirão os cépticos; foi Deus que, por intermédio dele, não quis que eu morresse já, dirão os crentes; ainda não era a minha hora, dirão os fatalistas. Todos temos razão, afinal. Eu fui salva quando me perdia. Quem me salvou? Foi Deus, foi um homem, foi uma ideia? Tudo isto e nada disto. As ideias que fazemos de Deus, do homem e da própria ideia são, apenas, imperfeitas compreensões do que deverá ser a Verdade, se é que, por fim, a Verdade não é totalmente diferente. - Parou um momento e continuou, com um leve sorriso: - Apesar de todas estas dúvidas, todos nós, no fundo do nosso ser, cremos em alguma coisa. O próprio doutor Viegas, com tudo o que diz e faz, crê. Cremos justamente porque não sabemos e é esta constante ignorância que mantêm a fé, qualquer que ela seja. A Verdade pode ser tão horrível que, se fosse conhecida, talvez destruísse todas as crenças e fizesse do Mundo um grande manicómio. O que nos vale, o que nos mantém nesta indiferença de boi jungido, é a impossibilidade do conhecimento absoluto, e então contentamo-nos com simples aparências, de que tecemos a vida inteira. Queres um exemplo: que sabemos nós da Joana? Que vive aqui quase desde que nasceu, que cozinha bem e pouco mais. Quando nos rimos e achamos graça às suas respostas tolas, pensamos, porventura, por que será ela assim e não doutro modo? Pensamos que a mão que a fez cozinheira podia tê-la feito princesa? Que detrás daquelas carnes abundantes existe qualquer coisa de parecido com o que existe em nós próprias, que nos presumimos melhores que ela? E agora vem a pergunta final: quem somos e o que somos, de facto? O que se passou antes de nós? O que virá depois? Talvez o venhamos a saber, mas então será demasiado tarde.
Suspirou, agitou-se como se despertasse duma abstracção, e continuou, agarrando as mãos de Benedita.
- Depois de tudo isto, creio que não respondi à tua pergunta. Desculpa. E parece-me que não posso responder. Fala com o padre Cristiano: ele dirá o suficiente para resolver a tua dúvida.
Benedita, enquanto Maria Leonor falara, ouvira-a boquiaberta, suspensa dos seus lábios e dos seus gestos harmoniosos, seguindo-lhe as contracções do rosto com contracções idênticas e, agora que ela se calara, olhava-a ainda como se não fosse a sua senhora quem ali estivesse, mas uma desconhecida, uma mulher a quem não estava ligada por quaisquer laços. E mais. Involuntariamente se levantava no seu espírito a convicção de que aquela mulher que ali estava na sua frente, direita, misteriosa nos seus vestidos negros, não era uma mulher. Era qualquer coisa de indeterminado, de indefinível, de contrário à razão e ao sentimento, impossível como todas as impossibilidades, mas, ao mesmo tempo, definida, certa, inamovível como um destino. Dentro de si rasgava-se um véu e pela abertura passava um raio de luz vivíssima, que a cegava. Respirava fundo, como se um novo ar lhe entrasse nos pulmões, sentia correr-lhe nas veias um sangue diferente, mais cheio de vida, mas demasiado forte e espesso para o seu coração. E não compreendia.
Maria Leonor, um pouco surpreendida, olhava para ela. Benedita continuava silênciosa, olhando também para a ama. Um toque de campainha fê-las sobressaltar, assustadas.
Daí a pouco entrou na sala Viegas, sacudindo as abas do casaco. Seguia-o um magnifico perdigueiro de longas orelhas caídas e olhar compreensivo, que, depois de farejar toda a casa, se deitou no vão duma janela, de olhos semicerrados.
Benedita saiu cortejando o médico, que a seguiu com um olhar interessado:
- Como estás, Maria Leonor? Ouve cá, o que tinha a Benedita que levava uma cara de quem viu o inimigo?
Maria Leonor riu-se, alegre, e sentando-se no sofá apontou uma cadeira ao clínico.
- Não viu o inimigo, não, senhor doutor. Mas foi quase pior. Ouviu uma pequena lição de metafísica. A dose deve ter sido um pouco forte, porque ela ficou sem poder pronunciar palavra!...
- Mas que foi que lhe disseste? Isso não surgiu, decerto, sem mais nem menos...
As feições de Maria Leonor serenaram e foi com um ligeiro tom de melancolia na voz que respondeu:
- Perguntou-me por que tinha Deus escolhido o doutor para me curar. Na sua opinião, o doutor, como herege que é, não pode receber de Deus qualquer inspiração.
O médico recostou-se na cadeira, sorridente, e depois de ter olhado, pensativo, para o cão, que se estendia no sobrado sob a luz do Sol que entrava pela janela, respondeu:
- Creio poder dar a resposta que a Benedita parecia desejar. É que Deus não tinha à mão outro médico além da minha pessoa. Bom, havia ainda o António, mas isso... E tu, que lhe respondeste?
- Nem eu sei, doutor. Lembrei-me de meu pai, da sua ansiedade espiritual, das suas divagações metafísicas, da sua insatisfação moral, que acabaram por levá-lo ao suicídio, e respondi-lhe de acordo com as minhas recordações de momento. Assustei-a e creio até que me assustei também. Já não pensava nestas coisas há muitos anos e não sei por que as lembrei agora. Enquanto lhe respondia, pensava na frase que ouvi a meu pai poucos dias antes da sua morte. Foi ela: <<Na nossa família sempre morremos por grandes coisas.>> E pensava se eu, também, seguirei a regra...
Viegas levantou-se, enfiou as mãos nas algibeiras, e falou, enquanto atravessava a sala em largas passadas, que faziam tilintar finamente os copos do aparador:
Só o futuro o poderá dizer. Mas entendo que todas as suposições são absurdas e, a menos que queiras ir preparando em vida uma morte correcta e digna, com umas leves tinturas de heroísmo ou sacrifício, para que falem de ti com admiração quando sete palmos de terra te separarem da vida, deves pôr semelhante preocupação de parte e pensar apenas no que actualmente fazes debaixo do sol. Se começas outra vez a
enredar-te nessas trapalhadas, perdoa o depreciativo!, esqueces-te de que a tua missão no Mundo não é de filósofa de mãos atadas à cabeça a chorar a rapidez da vida ou a desejar uma apoteose para a morte, mas a da mãe, única e exclusivamente a de mãe, e mãe tanto mais responsável quanto é verdade que... Não falemos em coisas tristes, porém... Sabes o que eu ia dizer... Por conseguinte, e recapitulando...
Parou diante de Maria Leonor, braços cruzados sobre o peito, o rosto carregado:
Viver, já to disse, é uma operação simples, que a sociedade, as convenções, a maldade dos homens complicam diariamente com emoções, sentimentos, desgostos, esperanças, desilusões e tristezas. Infelizmente é assim e não pode deixar de ser assim. Mas
resta-nos a consolação de que, muitas vezes, das nossas tristezas nascem as alegrias dos outros. Somos como que um degrau onde se apoiam os pés dos que nós ajudamos a viver. Já chamaram aos médicos os sacerdotes do fogo sagrado da vida. Tirando o que a frase tem de poeirento e de pomposo, temos de lhe reconhecer alguma realidade, não te parece? Do mesmo modo, quase posso definir a mãe...
Maria Leonor interrompeu, com um sorriso disfarçado por entre o seu ar pensativo:
- Não defina, doutor! A Joaquina dos Cem Filhos, que é a mulher mais prolífera da aldeia, não quereria certamente outra definição além daquela que lhe cabe por direito próprio: a de mãe. Temos de voltar à origem, doutor. Dar às coisas o nome que elas têm e nada mais. Sou mãe, apenas. Mãe, sem complicações desnecessárias...
Viegas riu gostosamente e replicou:
Não se pode falar a uma mulher lisonjeando-a, quando é mãe. Para a lisonjear,
bastam-lhe os filhos... - olhou para o relógio e deu um brado: - O quê? São já sete horas? Oh, Maria Leonor, adeus, adeus menina! Com tanto para fazer e aqui me deixei ficar de conversa! Anda, Piloto...
O cão descerrou os olhos sonolentos e levantou a cabeça. Deu um salto para fora e, a correr, desapareceu na poeira que as patas do cavalo de Viegas levantavam na alameda.
Maria Leonor voltou para dentro e, depois de atravessar várias salas, abriu uma porta que dava para um pequeno quintal nas traseiras da casa. Debaixo duma acácia, agitavam-se Júlia e Dionísio, que, debruçados para dentro da capoeira, olhavam qualquer coisa. Ao verem a mãe, romperam em altos gritos:
- Mãezinha, venha depressa, venha depressa! Já nasceram três pintos, venha ver!...
Quando chegou Dezembro, frio e seco, de grandes noites estreladas e silenciosas e de dias cinzentos sem chuva, Maria Leonor perguntou, indecisa, a si própria, o que deveria fazer no Natal. Festejá-lo como em todos os anos anteriores ou guardar uma discrição reservada na alegria tradicional da época? Observando os criados, verificava neles a mesma indecisão e o mesmo constrangimento. Quando alguém falava no Natal, era olhado repreensivamente pelos circunstantes e logo se calava como se tivesse dito alguma inconveniência. Benedita não sabia o que responder às perguntas de Júlia e de Dionísio, ansiosos por saberem se a mãe lhes tinha comprado qualquer presente. Os dias decorriam velozes e a data aproximava-se, mas Maria Leonor não dava qualquer ordem para os preparativos da festa. Ninguém lhe perguntava o que deveria fazer-se.
Dois dias antes do Natal, Maria Leonor, à tarde, saiu de casa sozinha, recusando a autorização pedida pelos filhos para a acompanharem, e a pé pela alameda
encaminhou-se para a aldeia. Corria um ventinho agreste, que lhe punha nas faces uma sensação desagradável de frio. Caminhou depressa para aquecer e só diminuiu o andamento ao chegar às primeiras casas do lugar. Saudando à esquerda e à direita as cabeças curiosas que espreitavam pelos postigos, atravessou a aldeia até entrar de novo no campo deserto e frio. Deixou a estrada e cortou para um atalho à esquerda.
Dum lado e doutro do carreiro estendia-se o olival sem fim. Os troncos rugosos e contorcidos das árvores destacavam-se nítidos do fundo verde do chão, coberto por uma camada de erva fina e rasteira, apenas interrompida pelos traços claros dos carreiros que atravessavam o campo.
Maria Leonor arfava ligeiramente no esforço da subida. À sua frente abria-se o cemitério. Entrou. O saibro do chão estalava debaixo dos seus pés, quebrando o silêncio. A álea central acabava no muro fronteiro. De fora, uma oliveira inclinava os ramos sobre o muro, de um branco cintilante, caiado de fresco. Numa das ramadas voava um pardal. O frémito das asas era o único ruído no silêncio que se fizera por momentos no campo santo. Depois, um golpe de vento do lado da povoação trouxe no ar sons de chocalhos de gado, latidos de cães e um surdo rumor de vozes das mulheres que lavavam no rio. Ouvia-se o bater da roupa nas pedras, com um som claro que repercutia entre as árvores. O pardal fugira. Uma nuvem empurrada pelo vento descobriu o sol. O cemitério ficou cheio de luz. As cruzes de cada sepultura, que pareciam a materialização do silêncio, projectaram-se no chão em sombras deformadas de braços muito longos. Inconsciente do que fazia, Maria Leonor recuou, vendo que pisava uma das sombras. Voltou-se devagar e saiu do cemitério. Sobre o arco da entrada estava a caveira de pedra. No caminho Maria Leonor virou-se diversas vezes para a ver. Lá estava, presa ao muro, atirando para o campo um riso mudo e sem lábios, indiferente ao sol que lhe entrava pelas órbitas, alumiando o interior do crânio vazio.
Quando chegou à quinta, subiu ao quarto e lá ficou até ao fim do dia, pensativa, sentada no mesmo lugar onde passara os seus dias de convalescença. Quase à noite, desceu e foi à cozinha. Diante da larga mesa as criadas preparavam a ceia. Joana, à chaminé, vigiava as panelas. Ao verem entrar a ama, interromperam o trabalho. Maria Leonor, em voz alta e nítida, chamou:
- Benedita!
A criada acorreu, pressurosa:
- Minha senhora!...
- O Natal este ano será igual aos dos anos anteriores. Trata de arranjar as coisas para que nada falte.
Saiu. Benedita seguiu-a. Na cozinha, as criadas murmuravam de espanto. Nenhuma se atrevera a fazer observações em voz alta, mas em quase todas se levantou um repentino desejo de censurar a ordem da ama. Pensavam que era falta de respeito pela memória do patrão a festa que se ia fazer.
No dia seguinte, quando Maria Leonor repetiu a ordem a Jerónimo, julgou ver-lhe passar nos olhos uma sombra de reprovação. O velho arqueara as sobrancelhas grisalhas num gesto de admiração. Abrira a boca, mas calou-se. Maria Leonor perguntou, então:
- Que ia dizer, Jerónimo?
- Nada, minha senhora! Não ia dizer nada.
- Está a enganar-me! Quero saber!...
Jerónimo, atrapalhado, acenou negativamente sem poder falar. Maria Leonor olhou para ele, silênciosa, e mandou-o retirar.
Durante todo o dia, sentiu nos criados a mesma reprovação muda, exprimida claramente nos olhares de estranheza que lhe deitavam. Quando chegou ao palheiro, novamente construído, para assistir à descarga duma carrada de palha que comprara, viu que os homens se calavam quando entrou. A descarga continuou, em silêncio, apenas interrompida pelo atirar dos grandes fardos para o chão. Retirou-se, pensando se não teria feito mal dando aquela ordem. Mas não achava que fosse mau o seu procedimento. Eles não compreendiam a intenção. Apenas viam a falta de respeito, a frieza aparente, e nada mais. Como convencê-los de que estavam errados? Talvez Benedita... Mas até essa mesma andava calada e arredia. Restava-lhe apenas aguardar.
Apesar da resistência dos criados, tudo se achava pronto para a festa quando a noite começou a descer. Esperava-se, para a ceia, pelo doutor Viegas e pelo padre Cristiano. Era ainda cedo, porém. O dia afundava-se por detrás da linha das serras do poente, que se erguiam como a guarda dum poço imenso.
Maria Leonor subira ao quarto a fim de preparar-se para a consoada. Não acendeu a luz. A última claridade diurna entrava ainda numa penumbra fugidia, que ia desaparecendo aos poucos. Depois de se vestir, abriu a janela e encostou-se ao parapeito. De baixo vinha o rumor alegre da criadagem na cozinha. Ouvia os pratos tilintarem, o bater compassado das facas nos tabuleiros cortando as largas fatias de carne de porco, que iam para o lume em frigideiras imensas.
Uma estrela-cadente riscou o céu. Maria Leonor sorriu lembrando-se da estrela de Belém e, brincando consigo própria, começou a procurar no campo, quase totalmente imerso em sombra, os três reis magos.
Olhou por cima das casas quase invisíveis, no lugar onde brilhavam luzes mortiças de candeias, até uma colina que recebia ainda no topo os últimos raios de luz. Ali, os muros brancos do cemitério, caiados de fresco, cintilavam sob a claridade dourada do Sol, que desaparecia rapidamente.
Caiu de joelhos e, com a cabeça apoiada no parapeito da janela, chorou longamente, como nunca mais tinha chorado depois da sua doença. A colina desapareceu de súbito, fundida na escuridão. Maria Leonor enxugou os olhos, levantou-se, e ao
dirigir-se para a porta, recuou assustada diante duma sombra escura entre os batentes. Ia gritar, mas a sombra moveu-se. Era Benedita. Respirou aliviada:
- Credo, mulher, que susto me deste!
Vendo que a criada não respondia, perguntou:
- Que há?
Benedita respondeu com a voz trémula de choro:
- Oh, minha senhora, desculpe a minha maldade! Compreendo agora por que quis que se fizesse a festa do Natal...
Riscando um fósforo para acender o grande candeeiro de petróleo da cómoda, Maria Leonor respondeu:
- Compreendes, com certeza? É preferível que não compreendas a que compreendas mal.
- Compreendo, sim, minha senhora! Mas garanto-lhe que não me engano. Vou já dizer àquelas doidas da cozinha que não é nada do que elas pensam...
- Mas o que é que elas pensam?
- Ora! Tolices que não se dizem.
- Pois sim! E que lhes vais to dizer?
A esta pergunta, Benedita suspendeu o entusiasmo. Sim,
O que lhes ia dizer? Que tinha visto a senhora a chorar? Depois? Ora! Elas haviam de compreender também...
Saiu, quase a correr, e pela escada abaixo Maria Leonor ouviu-lhe o bater dos tacões nos degraus. Sentou-se na beira da cama e aí se deixou ficar cismando, até que o ruído das rodas dum carro lá fora a advertiu de que os seus convidados tinham chegado. Desceu para os receber. Viegas ajudava o padre a subir os degraus da porta, enquanto Benedita alumiava, levantando, a toda a altura do bravo, o candeeiro. Entraram para a sala de jantar.
Na mesa, coberta por uma toalha muito branca, havia cinco talheres. Uma baixela de prata brilhava. Sentaram-se. Havia na atmosfera um constrangimento subtil e os próprios objectos pareciam ter um aspecto diferente e alheado. A luz brilhava com uma claridade crua, que não animava nem aquecia, e os quadros, nas paredes, tinham uma aparência hostil e fria, que indispunha.
Quando Benedita saiu, Maria Leonor levantou-se e disse em voz firme, esforçando-se para dominar a comoção:
- Enquanto não vêm para dentro os meus filhos e enquanto não começa a ceia, quero dizer-lhes umas palavras, meus amigos. Os meus criados acharam estranho que eu mandasse que a festa deste ano fosse igual às dos anos anteriores. Os meus amigos terão, talvez, o mesmo pensamento. Deixem-me explicar, portanto. Meu marido morreu há mais seis meses e, desta maneira, o Natal não deve nem pode festejar-se com a mesma alegria antiga. Falta aqui a sua presença. Mas este ano o Natal festeja-se. Para isso, tal como dantes, matou-se o porco, estão a fazer-se as filhós, logo à noite atirar-se-á para o ar o foguete tradicional. E tudo isto eu mandei fazer apesar das murmurações. Estive ontem no cemitério. Não rezei. Havia lá demasiada Paz para que eu necessitasse rezar. O meu espírito estava suficientemente calmo. Não ouvi vozes interiores, nem me pareceu ouvir a voz do Manuel no rumorejar das árvores, mas, quando de lá saí, pensava que não podia fazer outra coisa senão o que faço agora. Compreendem-me?
Ao mesmo tempo, Viegas e Cristiano levantaram-se e, em silêncio, apertaram as mãos de Maria Leonor. O padre assoou-se com estrondo. Viegas voltou-se para a parede e limpou os olhos com as costas da mão. Quando se voltou, compondo os óculos no nariz, estava já calmo. Inclinou-se para o padre e soltou a sua frase de todos os anos na véspera do Natal:
- Então, reverendíssimo padre, vamos a caminho dos dois mil anos do nascimento, em Belém, na Galileia, dum menino a quem puseram o nome de Jesus e que, não sei por que artes, à tanto tempo de distância, ainda lhe fez perder a cabeça!
Habituado áquela graça, o padre respondeu, como sempre que a ouvia:
- Exactamente! Que me fez perder a cabeça e que há-de fazer perder a sua quando lhe chegar a altura, sossegue!
Maria Leonor, também como sempre, interveio:
- Pronto, acabou-se! Em minha casa não se discute na noite de Natal. O padre Cristiano alegra-se por mais um ano de cristianismo; o doutor Viegas regala-se com a talhada de carne de porco que eu lhe puser à frente daqui a pouco. Vamos à cozinha!...
Saíram, sorridentes, Viegas dando o braço ao padre e falando sobre o plantio das oliveiras e Maria Leonor abrindo a marcha. Pela porta aberta da cozinha saía uma claridade rubra e quente de mistura com um delicioso cheiro de frituras.
Teresa, sentada ao lado da chaminé, com um garfo comprido numa das mãos, virava regularmente as filhós que boiavam no azeite fervente duma frigideira imensa. Júlia e Dionísio, acocorados ao lado dela, muito corados pela vizinhança do fogo, seguiam atentos a trajectória dos fritos na ponta do garfo espirrando azeite e caindo num grande alguidar de barro, onde ficavam chiando até arrefecerem.
Joana passava da panela para uma travessa, já cozido, um galo quase inteiro, e com uma faca pontiaguda trinchava-o, fazendo tremer no esforço os braços gordos e roliços.
Por toda a cozinha ia uma azáfama prodigiosa. E Benedita, suando, afogueada, gesticulava no meio da casa, dando ordens que ninguém ouvia e ouvindo perguntas a que não respondia. O rebuliço decresceu um pouco com a entrada dos visitantes, mas logo continuou, imenso e esbaforido.
A um canto, Jerónimo, fleumaticamente, com uma neta sentada nos joelhos, preparava com um grosso cordão branco um isca comprida, que acendia e apagava, experimentando-lhe a combustibilidade. Vendo a ama aproximar-se, pôs a neta no chão, e com um largo sorriso que lhe encrespava as suíças grisalhas, informou:
- É para acender o foguetezinho logo, quando a Teresa acabar as filhós. Deus queira que ela não demore muito...
Maria Leonor sorriu e respondeu:
- Deixe, Jerónimo, que há-de ser o primeiro este ano.
- Vamos ver, vamos ver, minha senhora...
Voltaram à sala de jantar. Na cozinha, Júlia e o irmão tinham-se escondido atrás de Teresa, para não terem que sair dali, e a mãe passara por eles simulando não os ver. Voltaram para o seu lugar, novamente interessados no frigir das filhós.
Por pouco tempo, no entanto, porque daí a pouco o jantar era servido, e depois de terem lavado as mãos cheias de farinha e dado um jeito arrumador nos cabelos despenteados entraram na sala de jantar, Júlia um pouco atrás do irmão, parando quando ele parava e andando quando ele andava.
Subiram para as cadeiras, alteadas com duas almofadas de modo a poderem chegar aos talheres. O jantar começou silenciosamente, depois de o padre Cristiano ter rezado uma curta oração. Maria Leonor e os filhos, de mãos juntas, acompanharam a reza em surdina, com os olhos fitos no prato e a cabeça baixa. Enquanto rezavam, Viegas tamborilava com os dedos, um pouco nervoso, no tampo da mesa.
Quando as cabeças se levantaram e as mãos se dirigiram aos talheres, o médico procurou o olhar de Maria Leonor. Um pouco pálida, à cabeceira da mesa, dirigia o serviço, indicando os pratos a colocar e a retirar na altura devida.
Benedita, de avental branco bordado, girava à volta da mesa, levantando os pratos e cumprindo as ordens que Maria Leonor lhe dava em voz baixa. Ajeitou o talher de Dionísio, que se atrapalhava, um nadinha trémulo, ao segurar a faca e o garfo. A irmã, mais à vontade, olhava-o com um ar de comiseração profunda, o que mais o embaraçava ainda.
A tempestade, prestes a rebentar, foi evitada por Benedita. O gesto, porém, valeu-lhe um olhar zangado de Dionísio, que não queria ficar mal colocado em competição com a irmã. Daquela vez o maldito talher tinha-o atrapalhado o suficiente para saber que, no dia seguinte, a irmã o importunaria com observações ingénuas, que tinham o condão de ser irritantes e, afronta suprema!, pretender ensinar-lhe a estar à mesa.
Viegas, que interrompera a conversa que mantinha com Maria Leonor e o padre, não pôde evitar o riso ao ver o ar despeitado de Dionísio. Tentou animá-lo:
- Então, Dionísio, que tens tu? Olha que o não saber estar à mesa não entra na lista dos delitos que impedem que o sapatinho da chaminé, de manhã, esteja repleto.
O pequeno sorriu, mais tranquilo. A conversa generalizou-se. O padre Cristiano perguntou ao médico se andava a plantar pereiras ou macieiras. E gabava um pessegueiro que tinha no quintal, que dava os pêssegos mais sumarentos de duas léguas em redor. O médico volveu logo, sorridente:
- Isso deve ser da água benta, padre Cristiano! Não é com água benta que os rega?
O padre fazia um trejeito de leve aborrecimento, mas, vendo o olhar risonho que Viegas lhe deitava por cima dos óculos, respondeu, procurando manter-se no mesmo tom:
- Da água benta não direi, porque, quando a árvore é ruim, não há água benta que resulte, e o meu pessegueiro é bom com qualquer água que se lhe deite...
O médico fingiu-se zangado, e encrespando o sobrolho respondeu:
- Padre Cristiano, padre Cristiano! Em matéria de doente e de pomares, não consinto que ninguém me ponha o pé adiante. E olhe que prefiro que me chame mau pomareiro a médico ruim.
O padre acenou com as mãos à frente do rosto, negando:
- Isso não, isso não, doutor! Posso desconfiar dos seus dotes de pomareiro, mas das suas qualidades de médico não duvido. E que o diga aqui a Maria Leonor, que mais razões tem para falar!...
Maria Leonor, que ouvira a conversa com um sorriso distraído, aprovou o dito do padre, dizendo:
- Sim, realmente, poucos melhor que eu poderão dizer quem é o doutor Viegas. Um homem que podia fazer fortuna em Lisboa e que veio enterrar-se aqui, nesta aldeola, para...
- Bom, bom - interrompeu o médico, mal-humorado -, era o que faltava, ser convidado para jantar e ainda por cima ouvir o meu elogio. O estômago fica satisfeito com o jantar, mas a vaidade dispensa o elogio. Acabou-se!...
Maria Leonor acorreu com um sorriso acalmando Viegas, que só acabou rindo quando Júlia lhe perguntou, inocentemente, se também não sabia estar à mesa.
O jantar estava no fim. Servido o café, Viegas pediu licença para acender um charuto, e enquanto o padre murmurava as graças foi até à janela. Afastando as cortinas, olhou para fora. Batia nesse momento a meia hora depois das onze.
Levantaram-se todos da mesa e foram também para a janela. Depois de Maria Leonor a ter aberto, encostaram-se ao varandim, tremendo um pouco de frio e olhando o céu onde passavam grossas nuvens que tapavam o brilho das estrelas, lucilantes no azul negro do espaço. Falavam em voz baixa, Maria Leonor com os filhos apertados contra as saias abrigados do frio, e o médico tirando largas fumaças do charuto, cuja ponta brilhava na escuridão em intermitências luminosas. O padre, encostado à ombreira da janela, cerrava os olhos, pensativo.
De repente, a porta da cozinha abriu-se. No chão do largo defronte da casa
espalhou-se um rectângulo de luz. E à frente dos criados irrompeu Jerónimo, com a isca acesa na mão direita e o foguete enristando o cartucho para cima, na esquerda. Vendo Maria Leonor à janela, voltou-se, risonho, e exclamou:
- Pronto, minha senhora! Acabámos! Lá vai o foguete! E desta vez somos os primeiros!...
- Atire, atire depressa, Jerónimo! - gritou Maria Leonor, entusiasmada.
O velho abegão soprou nervosamente a isca, que largava chispas – e chegou-a à pólvora já picada do canudo. Manteve o foguete um momento preso na mão, aguentando o impulso ascensional que a combustão da pólvora lhe imprimia, e quando o fogo era expelido com maior força largou o foguete, ajudando-o ainda na subida com o atirar do braço para cima.
O foguete subiu, assobiando, deixando atrás de si uma esteira de fogo, riscando a escuridão do céu com um sulco brilhante, e rebentou lá em cima numa chuva de estrelas amarelas, verdes e vermelhas, dando, ao mesmo tempo que atingia o ápice da subida, três estoiros potentes que despertaram os ecos da quinta. Enquanto o foguete, lá em cima, vivia intensamente a sua vida fugaz, os olhos dos criados, das crianças, de todos seguiam-no extasiados. Os dois irmãos, sobretudo, viram, com o coração dilatado de entusiasmo e admirando, a chuva de estrelas cair do céu lentamente, até se transformar numas luzinhas amareladas que depressa se extinguiam.
Quando o foguete caiu, romperam todos em aclamações, na alegria de terem sido os primeiros a acabar, naquele Natal, os fritos tradicionais. Ainda gritavam satisfeitos, quando, do lado da aldeia, subiu um risco luminoso que estoirou no ar. Era um modesto foguete de três respostas.
Aventaram-se logo hipóteses sobre o sítio donde teria partido. Enquanto uns garantiam que era da casa do Joaquim Tendeiro, outros afirmavam que tinha saído da banda do rio, e que, portanto, era dos Pintos Barqueiros.
Novo foguete veio terminar a discussão. E, logo após, outro. E mais se seguiram. Como se se chamassem uns aos outros, os foguetes subiam sobre as casas, traçando uma trajectória luminosa que ia acabar em relâmpagos sucessivos e mal se viam na escuridão.
Durante algum tempo, dezenas de foguetes subiram ao ar. A cada um, os criados e as crianças que tinham descido para o terreiro batiam palmas com entusiasmo, mal sentindo o frio. Depois, os foguetes foram rareando. Apenas um ou outro riscava o céu, aborrecido pela falta de companhia, preguiçosamente, e depois de dadas as clássicas três respostas descia melancólico, ardendo mortiço.
Os criados entraram de novo para a cozinha. Estava finda a festa do Natal. As crianças subiram. O padre despedia-se: tinha a sua missa do galo e não podia deitar-se muito tarde quem dentro em pouco deveria estar a pé. O médico acompanhava-o até à porta de casa. Subiram para o carro. Acendeu-se a lanterna junto à manivela do travão, e o médico, empunhando as rédeas, chicoteou o cavalo, que partiu num ligeiro trote com um alegre guizalhar.
Maria Leonor subiu ao andar de cima, levando as crianças, enquanto Benedita na cozinha dava as últimas ordens. Pelas salas desertas e silenciosas, Maria Leonor, com os filhos encostados a si e já com os olhos sonolentos e o passo trôpego, dirigiu-se para o quarto deles. Deitou-os, aconchegando-lhes amorosamente as roupas aos corpos. Beijou-lhes os olhos, que se fechavam consolados, e depois de contemplá-los durante longo tempo, saiu. Encontrando Benedita, que vinha também para deitar as crianças, disse-lhe:
- Já estão deitados. E tu vai também, Benedita. Boa noite!
- Boa noite, minha senhora! Até amanhã, se Deus quiser!
- Adeus!...
Sozinha, de braços desalentadamente caídos, percorreu as salas escuras, até ao seu quarto. Acendeu a luz. O aposento silencioso, familiar, habitual, espantou-a. Olhou em volta. Da casa, imersa na escuridão exterior, não vinha qualquer ruído. Apenas ouvia a própria respiração, sibilante, apressada. Juntou as mãos, apertou-as fortemente uma contra a outra, e em passos arrastados deixou-se cair na cama, soluçando, sentindo, numa acabrunhante angústia, o peso esmagador da sua viuvez.
Quando acabaram as férias do Ano Bom e dos Reis, as crianças voltaram para a escola. Maria Leonor ficou, de novo, sozinha. Os seus dias sempre iguais sucediam-se num desenrolar suave, sem grandes prazeres nem grandes aborrecimentos, dias que a envelheciam lentamente, sem deixarem recordações, alegres ou tristes. Os trabalhos do campo já não lhe davam aquele entusiasmo, aquela animação sem limites dos primeiros tempos. A sua iniciação estava concluída e nada se passava agora que ela não conhecesse já. Dentro de casa, quase sempre silênciosa pela ausência das crianças durante a maior parte do dia, passava as horas que as suas ocupações lhe deixavam livres.
Benedita falava sempre em voz baixa e a casa revestia-se de um ar conventual, resignado e solene, que intimidava, pondo cautelas estranhas nos passos e recato nas palavras. Quando Viegas, depois de se ter desembaraçado do pesado capotão alentejano, ali se demorava uns minutos no intervalo de duas visitas aos doentes, toda a casa retomava um brilho acolhedor e doméstico, que alegrava. Mas logo que ele saía, as mulheres entreolhavam-se indiferentes, como se se desconhecessem, e cada qual partia aos seus afazeres.
O Inverno, que tardara e se manifestara apenas pelo frio seco de Dezembro, começou, por fim, a desfazer-se numa chuva fina e leve, que caía das nuvens durante horas seguidas, dando ao dia um tom pardacento e indefinido, que envolvia o campo numa penumbra estática e morrinhenta, num frio húmido que fazia crescer vigorosa a erva dos prados.
Por esse tempo, os campos em redor da quinta apresentavam-se, quando de manhã cedo o Sol os banhava, cobertos dum tapete infinito, que se amoldava às ondulações do terreno, um tapete duma cor maravilhosa de verde, que durante as horas do amanhecer rebrilhava do orvalho e da humidade.
Depois, a chuva cessou e o frio voltou mais intenso. As noites tornaram-se claras e profundas, de uma limpidez transparente, rebrilhantes de estrelas sem conto, que só desapareciam horas altas, quando a Lua surgia do horizonte numa vermelhidão de sangue, que ia aclarando à medida que subia no céu, até se transformar num disco pálido, que vogava na frieza da noite, a caminho do outro lado da Terra. Era por estas noites vagarosas e frias, quando em casa tudo era silêncio e todas as criadas dormiam, extenuadas, no cansaço dos dias trabalhados, que Maria Leonor se levantava da cama, sem ruído, enfiando os pés descalços e friorentos numas pantufas. Abrigava-se numa longa capa, cobria os cabelos com um velho lenço de lã e abria a janela do seu quarto de par em par, tremendo de frio e de uma comoção indefinível.
Sentava-se, então, numa cadeira, enrolava as pernas arrepiadas num cobertor e deixava-se ficar durante muito tempo imóvel, sob a grande luz do luar que entrava pela janela. Quando, depois de algumas horas, a Lua se escondia detrás do beiral do telhado, deixando o quarto imerso em sombra, Maria Leonor levantava-se, entorpecida, esfregando as mãos gretadas do cieiro e ia deitar-se, tiritando. Não dormia logo. Ficava com os olhos muito abertos, tentando penetrar a escuridão, ouvindo na sala de fora o bater do relógio numa cadência monótona de quartos de hora sempre iguais.
Aos poucos, os lençóis frios iam aquecendo e ela estirava os membros preguiçosamente, numa volúpia leve e perturbadora, virando-se dum lado para o outro sem poder dormir. Sob o peso dos grandes cobertores, deitava-se de costas e sentia então um arrepio muito longo e muito doce percorrer-lhe o corpo até à nuca, vibrando toda, sentindo a garganta entumecer-se, quase se magoando no esforço de engolir a saliva.
Quando, de manhã, se erguia, estava pálida e fatigada, como se em toda a noite não tivesse dormido.
Ao receber dos filhos o beijo matinal, olhava-os com indiferença, e quando eles partiam para a escola, sob a chuva, na carroça que Jerónimo guiava, embrulhado numa manta pesada e com as pernas protegidas por grossos safões de pele de carneiro, despedia-se distraída com um afago, ficando a olhá-los até desaparecerem na estrada.
Voltava para dentro, pensativa, quase não ouvindo Benedita perguntar-lhe o que era preciso fazer naquele dia. Depois de a despedir, vagueava pela casa, perplexa, mexendo em qualquer objecto, olhando-o como se o não visse até que o largava.
Por vezes, saía do seu devaneio, e numa grande decisão movia-se pela casa como se tivesse em mente uma obra a executar, mas logo recaía na mesma distracção, sorrindo vagamente, relanceando o olhar para a quinta, através das janelas, como se esperasse alguém. Outras vezes, e sem qualquer motivo, impacientava-se com as criadas, gritando irritada, dando ordens intempestivas num desejo de desabafo, e ia pela casa, apressada, numa inquietação absurda, pletórica de vida, sentindo o sangue a correr-lhe com impetuosidade nas veias e chegar-lhe ao coração, excitando-a inquietamente em palpitações desordenadas, que a sufocavam, latejando-lhe nas fontes e na garganta.
Na cozinha, ao serão, enquanto nas panelas gorgolejava o caldo que os moços da quinta haviam de comer ao outro dia de manhã, as criadas, sentadas em volta do lume, aconchegando as pernas debaixo das saias, falavam da disposição da senhora. Enquanto faziam meia, desenrolando no regaço o fio de algodão, murmuravam das palavras da senhora, dos maus modos da senhora, da vida aborrecida da casa.
A um canto da lareira, sorrindo significativamente, Joaquina, a criada mais nova, admitida quando das vindimas e que ainda continuava na quinta, ouvia as conversas de Joana e de Teresa, conversas em que, apenas de vez em quando, Benedita intervinha para as censurar pelo atrevimento de falarem da senhora daquela maneira. Que não era atrevimento, era a verdade, respondiam as duas, abespinhadas.
Uma noite em que se discutia a maneira particularmente irritante como a senhora ralhara todo o santo dia e em que Benedita se calara, mau grado seu, reconhecendo quanta razão tinham, Joaquina soltou uma gargalhada, muito sublinhada e intencional:
- Oh, que parvas vocês são! Todas mulheres feitas e não são capazes de saber o que a senhora tem! Pois sei eu e não foi preciso muito tempo para saber. Quanto me dão se eu disser?
As saias juntaram-se todas no mesmo movimento de curiosidade. Até Benedita se inclinou para a frente, aguardando as palavras da criada, que gozava o efeito, mirando-a de lado. Joana e Teresa perguntavam, ansiosas:
- O que é, o que é? Diz o que é, Joaquina! Anda, mulher!...
A criada, risonha, olhou-as, e depois dum breve silêncio respondeu, baixando a voz, sem querer:
- Pois é muito simples! A senhora tem falta de homem!...
As criadas recuaram as cabeças, estupefactas, soltando um «oh! » escandalizado, mas sentindo dentro de si um apertão delicioso. Apenas Benedita, corando intensamente, balbuciou, atropelando as palavras na pressa de se exprimir:
- Ouve bem, Joaquina! Eu já sabia que tu não eras boa rês, mas ainda não tinha descoberto que eras tão velhaca! Se te atreves a dizer essas coisas outra vez e à minha frente, juro-te, pelas chagas do Senhor, que te faço engolir esta tenaz!
E deitava a mão a uma tenaz de ferro, imensa, com grandes garras nas pontas encurvadas. Joana e Teresa agarraram-na, aflitas, chorosas, enquanto Joaquina recuava atemorizada, com uma expressão de susto na face alvar e redonda.
Benedita atirou a tenaz para o chão e, fazendo esforços para se conter, continuou:
- Se tu não és reconhecida a quem te dá o pão, cigana de má morte, vais para o olho da rua! Velhaca, que não sabes quem é a minha senhora, repara que só te digo isto uma vez: mato-te como quem mata um piolho, se te atreves!...
E desaparece da minha vista! Se eu fosse outra, ias já amanhã para a rua, mas olha que não perdes pela demora. Traste!
Joaquina, silênciosa e trémula, saiu da cozinha.
No silêncio que se fez depois, o ferver das panelas soou mais alto e nítido. Benedita, nervosa, partia com um pau um grande pedaço de carvão incandescente, que rolara debaixo duma trempe. Sob as pancadas, a brasa desfazia-se em centelhas fulgurantes, que iam morrer no chão.
Joana suspirou levemente e disse, a medo:
- Aquela Joaquina é uma doida! Inventa coisas...
Benedita acabou de desfazer o carvão e respondeu, ainda exaltada:
- Ela é doida porque inventa e vocês são parvas porque acreditam!
As duas protestaram:
- Oh, Benedita, francamente!... Pois tu acreditas?...
- Sim, sim, acredito! Acredito que vocês são umas parvas!
- Não digas isso! Parece impossível!... Quem julgas tu que nós somos?
- Já disse: umas parvas. Mas tenham cautelinha, porque senão dou cabo de vocês! Tão certo como eu chamar-me Benedita!
Atirou o pau para o fundo da lareira e saiu também, enquanto Teresa e Joana ficavam na cozinha, comentando o dito da Joaquina e a zanga da Benedita. Que ela era muito capaz de fazer o que dissera! Boazinha até ali, outra igual talvez não houvesse, mas quando a arreliavam era má, vingativa. Não deixara de falar ao Chico Ferrador por ele ter dito, por graça, já se vê, que ela não casara por estar à espera dum proprietário?
Sim, porque ela, depois de vir para ali com a senhora, recusara todos os partidos que lhe tinham aparecido. E bons. O Joaquim Tendeiro, que já estava casado agora, bem lhe pedira. Recusara sempre. No fundo, era natural: sempre conhecera a senhora e não ia deixá-la assim. Mas podia ter casado, se quisesse: e aquela Joaquina... A Benedita tinha razão: era uma doida e uma ingrata, que melhor faria se deixasse a casa. Falta não fazia. A senhora é que, com o seu bom coração, a deixara ficar. Sim, porque a senhora era uma Santa. Andava agora aborrecida, mas aquilo até devia ser do tempo. Depressa lhe passaria. E, quando passasse, logo andariam todas satisfeitas. Era bom viver naquela casa, não havia dúvida...
Entretanto, Benedita subira ao andar de cima e, depois de espreitar o sono das crianças, dirigiu-se para o seu quarto. Ao passar pela porta do aposento de Maria Leonor, apurou o ouvido. A senhora dormia, com certeza. Àquela hora...
Entrou no quarto e começou a despir-se às escuras. Enfiou uma camisa de dormir, branca e áspera, e meteu-se na cama. Arrepiou-se ao contacto dos lençóis frios e puxou os cobertores para os ombros. Virou-se para um lado e tentou adormecer. As palavras cínicas e mal-intencionadas de Joaquina vieram-lhe à memória. Que a senhora tinha falta de homem! Como aquela desavergonhada se atrevera! E uma fúria irritada fê-la voltar-se no leito, bem desperta. Que parva fora em não lhe ter arrancado a língua, que era justamente o que ela merecia! Havia de ir para a rua, pois então! Debaixo dos tectos em que residia a senhora não podia viver aquela indecente. No outro dia havia de procurar dar a entender à senhora que a Joaquina não podia continuar na casa. Porquê? Ora! Arranjaria uma mentira e ela não ficaria nem mais uma hora. Era pecado, lá isso era verdade, mas nem que fossem necessárias mil!
E, de repente, lembrou-se de que, na sua zanga, nem sequer rezara antes de se deitar. Levantou-se apressada, e de joelhos, aos pés da cama, orou, tentando concentrar o espírito no significado das palavras rituais. Em vão! Não se esquecia da gargalhadinha de Joaquina. Deixou de rezar e enfiou-se de novo na cama.
Ajeitou nervosamente as almofadas para se deitar, mas deixou-se ficar sentada, com os joelhos dobrados e encolhidos servindo de apoio ao queixo e os braços apertando os pés contra as coxas, protegendo-se do frio.
Os primeiros impulsos da sua ira iam-se desvanecendo como fumo e agora pensava, procurando descobrir a razão que tinha levado a Joaquina a dizer aquilo... Que a senhora tinha falta de homem!... Mas porquê, Santo Deus? Por andar zangada e aborrecida com as criadas? Mas era ela obrigada a mostrar sempre boa cara àquelas delambidas? Não! Não podia ser só por isso! A Joaquina tinha, com certeza, outras razões. Mas, então, quais? Ela, Benedita, conhecia-a desde rapariga e melhor do que ninguém podia falar, conhecia-a mais que ninguém. Que viesse agora uma delambida, com cara de pêra dessorada, dizer tais coisas, não o podia consentir! Havia de
pagá-las!...
E a sua irritação renascia à lembrança da gargalhadinha cínica e reles que a criada soltara Atrevida! Ingrata! E o tom com que ela dissera aquilo!... Se a apanhasse ali, esganava-a!
Deixando-se cair nas almofadas, batia no colchão com os punhos cerrados, furiosa. Iria para a rua, olé se iria! Quando se levantasse, a primeira coisa que faria era dizer à senhora que aquela desavergonhada não podia continuar na casa.
E, de repente, sem que pudesse explicar a si própria a razão do movimento, sentou-se rapidamente na cama. Acabava de recordar a época em que fora para casa da senhora, ainda ela era solteira A família era constituída apenas por três pessoas: o senhor Melo, com o seu ar distraído e absorto, passeando no escritório, de braços cruzados, fumando incontáveis cigarros, folheando grandes livros, que lia até de madrugada. Só então se ia deitar, seguindo pelo corredor, direito ao quarto, curvado, naquele jeito que sempre lhe conhecera; a senhora dona Júlia, a mãe de Maria Leonor, resignada, falando sempre em voz baixa, que se movia como se fosse uma sombra, em silêncio, escutando o marido com atenção e cuidado, preocupada sempre que o via mais melancólico e aborrecido.
Havia, por fim, a menina Maria Leonor, que então era bem menina com os seus quinze anos muito esgalgados, os cabelos louros em farripas caindo-lhe para a testa, não deixando adivinhar, nem de longe, a linda mulher em que mais tarde se tornaria.
Revia-se de avental branco muito lavado, servindo à mesa, com um sorriso alegre, que logo lhe desaparecia quando o senhor Melo, depois de meter duas garfadas na boca, se sumia detrás da porta do escritório. O que chorara a princípio, julgando que ele não gostasse da comida! Depois, por meias palavras e nunca completamente, fora sabendo o que o apoquentava. E eram umas coisas muito esquisitas que a faziam cismar, apreensiva, perguntando a si própria se também estaria sujeita a andar um dia naquela consumição.
Num salto brusco de quinze anos recordou-se das palavras que a ama lhe dissera quando lhe falara na cura. Que susto tivera! E voltava atrás, outra vez, seguindo o pensamento até àquela noite em que, ao subir a escada, de volta de procurar um remédio para as dores de cabeça do patrão, se sentira apertada nos braços dum homem que a beijava brutalmente, no escuro. Gritara, espavorida, até que, por cima do corrimão, no patamar, aparecera a senhora dona Júlia, com um candeeiro. Quando lhe perguntaram o que sucedera, não fora capaz de responder, tremendo como varas verdes. E quando se explicou, diante dos patrões e da menina, viu o senhor Melo encolher os ombros e voltar-lhe as costas, enquanto a senhora acenava indignada, murmurando da maldade dos homens. A menina Maria Leonor abrira para ela uns grandes olhos dilatados de curiosidade.
E era este olhar que Benedita agora recordava, mergulhada num estado de quase inconsciência próximo do sono, debatendo-se, ainda, agarrada àquela ideia fixa: o olhar de Maria Leonor, cheio de curiosidade, que parecia querer tirar-lhe da boca as palavras com que contara o sucedido.
Era já noite velha quando Benedita adormeceu. De manhã, ao lembrar-se do que se passara na véspera, repreendeu-se pelas tolices que recordara antes de adormecer e, zangada consigo própria, ia pensando que estava sendo tão boa como a Joaquina.
Ao chegar junto da ama, ainda abriu a boca para lhe contar, mas calou-se. Justificou-se a si mesma perguntando-se para onde iria a outra se a senhora a mandasse embora. A resposta era simples: iria trabalhar para o campo. E a contemplação do dia chuvoso e frio fê-la encher-se dum grande dó pela Joaquina. Quando a encontrou na cozinha soprando vigorosamente os tições da lareira, chamou-a. A criada aproximou-se, de cabeça baixa, as mãos juntas debaixo do avental escuro.
- Afinal resolvi não dizer nada à senhora. Pensei que se daqui saísses terias de andar aí no campo a ganhar o pão com mais suor do que aquele com que o ganhas aqui. Mas aviso-te que não tornes a dizer aquelas coisas, porque senão vais para a rua, tão certo como eu chamar-me Benedita. Ouviste?
Elevou a voz, já irritada com a sua própria benevolência e esperando da parte de Joaquina uma resposta azeda. Se ela viesse, despertaria de novo a lembrança da sua fúria do serão da noite anterior e, então, daria largas à irritação que a invadia outra vez.
Joaquina, no entanto, respondeu, em voz sumida, que desculpasse, que tinha sido má e que não tornaria. Jurava que não tornaria e que seria sempre muito amiga da senhora. Benedita voltou-lhe as costas e respondeu asperamente que estava bem e que tivesse juízo.
Sentira-se furiosa ao ouvir a criada dizer que seria muito amiga da senhora. Muito amiga, hem? Como é que ela se atrevia, tinha o descaramento de afirmar semelhante coisa? Amiga da senhora, só ela, Benedita! Mais ninguém, a não ser os meninos, o padre Cristiano, o doutor Viegas, o Jerónimo e, talvez, o senhor António Ribeiro. Mas estes eram homens...
Sacudia o pó dos móveis da sala de jantar quando este pensamento a assaltou. Eram homens... Mas era justamente deles que a Joaquina dizia que... Bateu com o pé no chão, colérica, procurando não pensar no resto da frase. E novamente lhe veio a vontade de agarrar a criada por um braço e empurrá-la para a rua, fechar-lhe a porta na cara e
deixá-la ficar ali à chuva até que se fosse embora para sempre.
Mas, logo a seguir, uma grande moleza a acometia. E também um vago receio de que ela fosse repetir lá fora, na povoação, o que dissera. E depois? O nome da senhora andaria murmurado por todas as tabernas e portais, à boca pequena, com risadinhas trocistas e maldosas, pelas más-línguas da terra. Haviam de emporcalhá-lo impunemente no <<diz-se>> com que desfaziam honras e sujavam reputações. Fariam o mesmo que tinham praticado com a Joaninha Benta e o namorado. Uma tarde em que a fora ver ao postigo, sucedera que um botão da camisa dele, mal seguro, se desprendera. Logo a rapariga fora buscar agulha e linha e em poucos momentos o botão estava no seu lugar. Além do rubor mais acentuado nas faces da Joaninha e o ar satisfeito do rapaz, nada mais se passara. Daí a oito dias ambos se afogavam no pego da boca do rio, depois de por toda a parte os seus nomes terem andado de rojo.
E havia ela, Benedita, de não evitar que o mesmo escândalo, ateado por aquela malvada Joaquina, atingisse a senhora?! É verdade que a senhora dona Leonor não era a Joaninha Benta, tinha amigos e seria mais difícil que os dentes afiados das coscuvilheiras da terra a mordessem, mas sempre era bom acautelar. Calar-se-ia de maneira que aquilo não fosse espalhado e avisaria a Joana e a Teresa para que não fossem também badalar.
Custava-lhe suportar aquela cara de lua cheia, molengona e estúpida, mas tinha de ser: era a tranquilidade da senhora que estava em jogo.
Remoendo estes pensamentos, Benedita acabou de limpar os móveis. Abriu uma das janelas que dava para a quinta e sacudiu o pano de que se servira. Depois deixou-se ficar encostada ao peitoril, com um braço pendendo para fora. Chovia de novo. Distraía-se ouvindo a água precipitar-se do telhado e cair no chão em fins longos e contínuos, quando se sentiu agarrada por detrás ao mesmo tempo que lhe soava aos ouvidos um «uuuuuú» prolongado e lúgubre.
Deu um grito, assustada, e voltou-se rapidamente. Diante dela agitava-se um estranho animal branco com quatro pernas morenas e magras, que avançava e recuava ao compasso do gemido soturno. Mal refeita ainda, Benedita avançou para o animal e, com dois açoites valentes um pouco acima de cada par de pernas, pô-las em fuga, cada qual para seu lado. As pernas corriam agora à volta da mesa, embaraçadas pelas dobras do lençol e sempre perseguidas por Benedita, que empunhava um espanador. Encurraladas a um canto da sala, as pernas acabaram por se render, cansadas da correria. A criada arfava.
- Os meninos nunca mais têm juízo!.. Quando lhes dá para a brincadeira, há que aturá-los com todas as tropelias que queiram fazer. Imaginem: um susto destes!... Não sabem que até podia morrer?
As pernas avançaram devagar e em linha e pararam a dois passos de Benedita, que limpava uma lágrima nervosa, pondo a mão ansiada sobre o peito.
O dono das pernas mais altas agitou-se, embaraçado, e murmurou com um ligeiro tremor na voz:
- Ó Benedita, não chores, não?! Foi sem querer.. Se soubéssemos que te assustavas tanto, não tínhamos feito aquilo...
Sacudiu o braço de Benedita para a animar e a obrigar a ouvi-lo e continuou:
- Fui eu quem teve a culpa. A Júlia não queria, mas eu teimei e ela também ajudou. Mas fui eu quem teve a culpa... Estás a ouvir, Beneditazinha?
E os seus lábios tremiam também para reprimir o choro. Júlia já chorava. Benedita sentou-se numa cadeira para descansar e puxou as duas crianças para si. Afagou-as e procurou acalmá-las:
- Pronto, meninos, não chorem, estejam sossegados... Mas é preciso que saibam que a Benedita já vai estando velha e não pode ter sustos. Sosseguem. Pronto, não se fala mais no caso!
Nesse momento Maria Leonor entrou. Tinha descido do andar de cima e viera à sala de jantar buscar uns papéis que deixara numa gaveta do aparador. Estacou surpreendida ao ver os filhos chorosos, encostados ao regaço de Benedita, que os acariciava. E numa voz irritada perguntou o que era aquilo.
Benedita levantou-se, respeitosa, sentindo-se vagamente ofendida, sem que pudesse, no entanto, dizer porquê, e respondeu com doçura:
- Não é nada, minha senhora. Fui eu que estive a contar uma história aos meninos. Era uma história triste e eles começaram a chorar...
Maria Leonor enrugou a testa num vinco acentuado entre as sobrancelhas e respondeu, rispidamente:
- Vê se deixas de lhes contar disparates, para que não andem aqui a chorar como estúpidos. Meninos, venham cá!...
As crianças acercaram-se, receosas, tentando reprimir as lágrimas. Maria Leonor, ao ver a maneira tímida como os filhos se chegavam, impacientou-se e, numa voz estridente, gritou-lhes:
- Calem-se!
Os pequenos recuaram, assustados. Aquele movimento ainda mais a exaltou. Sem pensar no que fazia, deu uma bofetada atroadora em cada um. Nos olhos das crianças secaram subitamente as lágrimas e as pálpebras abriram-se espantadas e medrosas: era a primeira vez que a mãe lhes batia assim. Ficaram-se a olhar para ela, num espanto mudo, sem lágrimas, sentindo nas pequenas gargantas um espasmo doloroso que as impedia de gritar.
Maria Leonor, apatetada, olhou para os filhos e num movimento brusco saiu da sala. Só então as duas crianças choraram. Sentaram-se no chão, abraçadas uma à outra, a soluçar em surdina, como se o desgosto sofrido tivesse sido demasiadamente grande para se exprimir em gritos.
A criada, estupefacta, olhava ainda a porta por onde a ama saíra Apossava-se dela um desejo de bater na patroa, de estrangulá-la, de trazê-la de rastos até aos pés dos filhos, para a obrigar a pedir-lhes perdão.
E no fundo da sua alma sentia levantar-se, devagar, um ódio imenso a Maria Leonor, uma raiva que lhe fazia palpitar o coração e fincar as unhas nas palmas das mãos até ao sangue. E, vindas não sabia donde, as palavras de Joaquina sussurraram-lhe de novo nos ouvidos, frias, calculadas, certeiras. Já não lhes resistia e, obscuramente, ia pensando que talvez <<aquilo>> fosse verdade...
Levantou as crianças do chão, e com elas ao colo, chorando ainda encostadas ao peito, subiu a escada até ao quarto. A meio caminho encontrou Teresa, que se debruçou logo sobre os rostos aflitos e congestionados dos meninos, perguntando, ansiosa:
- O que foi, Benedita, o que foi? O que têm os meninos? Caíram?
- Não, mulher! Onde está a senhora?
- A senhora saiu para a quinta. Embrulhou-se na capa e para lá foi. Até me assustei com o ar dela! Ia, assim, a modo que espavorida, como se tivesse visto coisa má!...
Benedita deixou a companheira e abriu a porta do quarto das crianças. As camas ainda não estavam feitas e guardavam nos lençóis um vago calor. Deitou-as. Soluçavam, mas os olhos já não choravam. Apenas uma grande tristeza se lhes espalhava no rosto, onde os dedos da mãe tinham deixado vincos lívidos. E cerravam os olhos devagar, como se quisessem dormir para não pensar, com um aspecto angustiado mas sereno, que comovia infinitamente. Benedita saiu limpando os olhos húmidos.
Foi para o quarto da ama. O desalinhado que tinha de arranjar fê-la tremer de raiva. As cobertas arrastavam pelo tapete. Um bafo morno saía dos lençóis quando Benedita os puxou para trás. Sentiu uma leve tontura. As narinas tremeram-lhe, palpitantes. Atirou a roupa para o chão, irritada, e achou-se a murmurar consigo própria, enquanto olhava a cavidade que o corpo de Maria Leonor deixara nos colchões:
- Com que então tem falta de homem, hem? Tem falta de homem e os filhos pagam com pancada!... Cabra!
Virou costas à cama e saiu para o corredor. Ali, gritou pela Teresa. Quando a criada veio, espantada pela estranha atitude, disse-lhe:
- Arranja tu o quarto da senhora que eu hoje não estou disposta!
Enquanto a outra encolhia os ombros, resignada a não compreender a razão da ordem, Benedita voltou ao quarto dos meninos. Sentou-se numa cadeira ao lado das camas e ali se deixou ficar, pensativa, movendo-se apenas de vez em quando, cautelosamente, até eles acordarem.
Era meio-dia quando o almoço foi servido na sala. Júlia e Dionísio, com os seus fatos de domingo, aguardavam, atrás das cadeiras em que deviam sentar-se, a chegada da mãe. Benedita esperava também, de pé, ao lado da cabeceira da mesa.
Quando Maria Leonor entrou, silênciosa, teve um ligeiro movimento de recuo ao notar a imobilidade dos três. Era aquele o espectáculo que via em todas as refeições. Desta vez, porém, havia qualquer coisa de diferente. Uma atmosfera gélida, um silêncio extraordinário enchiam a sala. Sobre a mesa, os copos e os pratos brilhavam friamente numa hostilidade severa.
Deu a volta à mesa, sentou-se, e logo Benedita começou a servir a refeição. As crianças sentaram-se também e a ajuda de Dionísio à irmã para subir à cadeira, que era sempre motivo de brinquedo, foi feita gravemente, sem um riso.
O almoço decorreu em silêncio, apenas interrompido pelo leve tilintar dos talheres. Maria Leonor olhava para os filhos, espantada, sentindo uma certa vergonha de mistura com uma irritação surda perante as faces graves das crianças inclinadas sobre os pratos, como um protesto mudo contra a violência de que tinham sido vítimas. E durante todo o tempo que durou a refeição, nunca teve necessidade de fazer a mais pequena advertência. As crianças serviam-se com a maior compostura, recusando ou aceitando o alimento com os modos comedidos de um adulto.
Perante os ares retraídos dos filhos, Maria Leonor surpreendia-se vagamente humilhada, pouco à vontade, como se estivesse diante de dois juízes severos e justiceiros.
Antes mesmo de a refeição ter terminado, levantou-se e saiu da sala, cruzando-se na porta com Benedita, que entrava com a sobremesa. Para deixar passar a ama, a criada encostou-se à parede, com as pálpebras descidas, velando o olhar, que fitava obstinadamente o tapete. Maria Leonor sentiu a repulsa. Viu Benedita contrair os lábios num arreganho de desprezo, numa contracção de horror, que a fez tremer, irada. Esforçando-se por se dominar, chamou quando a criada já entrava na sala:
- Benedita!
A criada, que ia servir a sobremesa, voltou-se lentamente e aproximou-se da porta. Aí, parou e, levantando os olhos para a patroa, disse, calmamente:
- Minha senhora...
Maria Leonor pensou, de repente, se a criada não estaria troçando de si, mas a maneira dócil como ela aguardava as suas palavras embaraçou-a, e respondeu, bruscamente:
- Não é nada! Quando precisar de ti, chamarei!...
Subiu devagar para o pavimento superior. De baixo, vinha o rumor indistinto da conversa entre Benedita e as crianças. Debruçou-se do corrimão para ouvir, mas não conseguiu entender o que se dizia. Apenas distinguia a vozinha aguda de Júlia, pontuada de vez em quando pela voz um pouco mais grave de Dionísio e pelo tom maternal de Benedita.
No meio da escada, encostada ao corrimão, deixou-se ficar a ouvir. Quando soou uma risada de Júlia, Tina como um estilhaçar de cristal, pousou um pé no degrau inferior para descer. Deteve-se, suspensa. A gargalhada cessara bruscamente e sucedeu-lhe um momento de silêncio. Maria Leonor sentiu o coração apertar-se-lhe numa súbita angústia, mas logo respirou, aliviada. Os risos recomeçavam e, agora, era também Benedita quem gargalhava, sacudidamente, numa alegria espontânea e viva. Ouvindo aquilo, subiu-lhe uma vaga de ciúme do mais profundo da sua alma e teve a sensação clara de que estava sendo espoliada de algo que fazia parte de si mesma, que tinha raízes nos recessos mais íntimos do ser.
Desceu decididamente alguns degraus, mas parou, ao ver saírem da sala de jantar Benedita e as crianças galhofeiras. Passaram em baixo sem a verem. Então, Maria Leonor recomeçou a subir, com uma tristeza imensa na alma e os olhos marejados de lágrimas.
Sentia-se estranha dentro de casa e olhava em volta, como se pela primeira vez os visse, aqueles móveis e aqueles quadros, a cor já debotada dos tapetes e o brilho baço das portas polidas. O aroma peculiar da casa despertava-lhe sensações novas e
afligia-a numa opressão indefinível e amargurante.
Entrou no escritório. Deixou-se cair no cadeirão atrás da secretária e, com as mãos amparando o rosto, ficou durante muito tempo a cismar.
Nas janelas, a chuva rufava a espaços, empurrada pelo vento, que assobiava no cunhal do prédio, mas logo recaía no ruído monótono das gotas, que chegavam ao chão apenas com a força do próprio peso. O dia acinzentava-se. Os pensamentos de Maria Leonor iam-se impregnando da melancolia do ambiente. Que solitária se sentia naquela casa, sabendo embora que por baixo de si havia vida, que lá fora a chuva preparava incansavelmente vida e que para lá da chuva havia, ainda, vida, sempre vida!... Àquela hora andaria Viegas montado na sua égua baia por longos caminhos transformados em atoleiros, à procura duma barraca perdida num ermo, onde um velho se debatia com a doença e com o medo da morte. Àquela hora, o padre Cristiano, numa carriola desconjuntada, encaminhava-se para um outro casinhoto imundo, levando consigo o viático salvador para a longa caminhada que alguém iria empreender até ao fim dos séculos.
Maria Leonor levantou os olhos e fitou-os na parede fronteira. Uma estante alta e escura, de portas abertas, mostrava as prateleiras carregadas e dadivosas. Eram os seus livros, que tinham sido, antes, do pai, encadernados em cores sombrias e pesadas; eram os livros do marido, mais claros, duma leveza que contrastava com o tom quase negro do móvel. Livros de aparências tão diferentes como os dois homens a quem tinham pertencido.
Um, inquieto, incompreensível à força de buscar compreensão, torturado duma angústia íntima, tiranizante e absurda; o outro, prático, calmo, que tragara um caminho na sua vida, um caminho claro, iluminado pelo sol dos campos e das colheitas. Dois homens que tinham deixado de existir já, mas cujas concepções diferentes da vida a faziam hesitar, numa procura constante de si própria, buscando qualquer coisa que lhe faltava e que sabia lhe daria a calma redentora de que precisava.
Era a sua vida um oscilar perpétuo entre dois conceitos de existência diferentes. Solteira, vivera sob a influência acabrunhante do pai, sob a terrível impressão de vácuo à sua volta, numa angustiosa convicção da inutilidade de qualquer esforço; casada, recebera a sugestão viva da existência determinada pela vontade e pelo desejo de andar em frente, sem perder tempo a lamentar ou glorificar o que já estava feito.
A sua passagem de rapariga a mulher dera-lhe a alegria louca e estonteadora duma saída para o ar livre depois de longa permanência numa penumbra húmida e fúnebre. Vivera na contemplação da sua transformação física e psíquica, num embevecimento constante do mistério genésico. A gravidez fora para si um motivo de espanto, como se nunca a mulher alguma tivesse sucedido coisa idêntica. E surpreendia-se a perguntar-se que méritos seriam os seus para que em si se reproduzisse a manifestação mais perfeita da vida. O crescimento dos filhos fora vigiado ansiosamente, como se temesse uma sorte de mágica. que os levasse, E este esquecimento de tudo que não fossem as crianças quase a fizera olvidar também do que a cercava. A morte do marido despertara-a brutalmente para uma vida que já não era a sua e, tremente de medo, sentia que regressava ao passado cheio de terrores e de sombras, ao passado estéril e inútil que julgava morto. E debatia-se, procurando onde agarrar-se, numa ansiedade de salvação que a esgotava.
De súbito, levantou-se da cadeira, impetuosamente, com os olhos alucinados, abertos como se quisessem fulminar o pensamento que lhe atravessara o cérebro num relampejar veloz.
Saiu do escritório a correr, como se todos os fantasmas da terra a perseguissem, ferozes e atormentadores.
Cá fora, parou, e, fazendo um gesto vago, sorriu tristemente. Que pensamentos, Santo Deus, que pensamentos! Deveria chorar ou rir? Era o maldito tempo que a desvairava. Sem poder sair de casa, vinha-lhe agora à cabeça uma série de tolices impossíveis. O que faz a ociosidade, justos céus! Terra daninha onde crescem os maus pensamentos, que são a fonte das acções condenáveis. E, pensando isto, uma sombra apreensiva lhe perpassava pelo rosto, mudando-lhe o sorriso numa expressão de nojo que lhe transtornava as feições.
Sacudiu a cabeça num gesto violento e desceu rapidamente ao rés-do-chão. Atravessou as salas que precediam a cozinha. Quando entrou, aspirou deliciada o cheiro da lenha queimada no forno. Debaixo do alpendre, lá fora, ia cozer-se o pão de milho para os trabalhadores. Joana, com uma vassoura de ervas molhadas, varria o forno, puxando para o buraco as brasas miúdas que se introduziam nas fendas dos tijolos. Júlia e Dionísio, ao pé do alguidar da massa, furtavam pequenos bocados que engoliam à socapa. Benedita e Teresa rapavam com uma faca o tabuleiro que devia receber os pães já cozidos.
Voltaram-se todos, surpreendidos, para Maria Leonor, estranhando vê-la ali. As crianças entreolharam-se, embaraçadas. A mãe, com um sorriso que obrigava a ser natural, exclamou:
- Meninas, quem vai tender o pão, hoje, sou eu! Joana, dá-me a tigela!
Arregaçou até aos cotovelos as mangas do vestido, descobrindo os braços alvos e redondos. Depois de ter polvilhado com farinha o fundo do recipiente, introduziu a mão em concha na espessura da massa lêveda e tirou-lhe um pedaço grande. Meteu-o dentro outra vez, fê-lo saltar até lhe dar uma forma arredondada. Com os braços levemente flectidos, acompanhava a pancada do pão.
Quando a massa adquiriu a forma desejada, rolou-a sobre a pá que Joana sustentava. O pão alastrou no ferro, abrindo bocas. Uns pós mais de farinha, e a criada, com um brusco movimento de vaivém, fez deslizar o pão sobre a pá até escorregar para os tijolos quentes do forno.
As mulheres debruçaram-se, curiosas. A massa alourava rapidamente e os contornos das fendas escureciam como os bordos duma ferida aberta. Logo a seguir, outro pão foi introduzido no forno. E, até acabar, foi sempre Maria Leonor quem tendeu.
O gelo entre ela e os filhos parecia desfazer-se, ali, ao calor da boca negra do forno. E eram eles que ajudavam quando era preciso segurar a pá para receber a massa. Por fim, também Dionísio quis substituir Joana. Cerrando os dentes, muito vermelho, para aguentar todo o peso do comprido cabo, conseguiu imitar o movimento da cozinheira. Havia já pouco espaço, porém, e o pão ficou achatado contra a abóbada, fumegando.
Quando Joana, concluída a tarefa, tapou a entrada da fornalha com uma velha lata caiada, Maria Leonor agitou os cabelos que lhe caíam sobre a testa, desceu as mangas e, sorridente, exclamou:
- Não podem dizer que não trabalho, não lhes parece? Olhem que o primeiro pão que sair pertence-me. Quero comer dele, logo, ao jantar!
Entrou na cozinha, contente, ao perceber atrás de si os filhos que a seguiam. Eram de novo seus.
E novamente o Inverno findou, deixando sobre os campos os sulcos lamacentos da sua passagem e, sob a lama avermelhada, as raízes embebidas de humidade. Um novo ciclo no crescimento das plantas reverdecidas ia iniciar-se com o surgir da Primavera. Da terra molhada saía, ofegante, o hálito bom do trabalho criador da natureza. Pisando os torrões moles dos campos cultivados, sentia-se a energia latente da terra, num desdobrar infinito de forças ocultas e misteriosas, num chamamento mudo a todos os músculos humanos. As grossas patadas dos bois alargavam-se no chão num vinco severo e honesto, como determinações raciocinadas de um cérebro vivo. E havia naquela sucessão de sinais, uns após outros, a inflexibilidade digna dos bons pensamentos.
Rompiam da terra vermelha os rebentos verdes do trigo, numa profusão que se alastrava pelo campo, subindo e descendo leves colinas, num assalto contínuo, numa fome insaciável, que ia devorando aos poucos a cor berrante do chão. As últimas nuvens, já mais brancas que pardas, passavam no céu levadas por um vento fresco numa corrida constante para outras paragens. Por vezes, juntavam-se todas num ponto do espaço, formavam uma grande mancha acinzentada e deixavam cair na terra as últimas chuvas do Inverno. Era breve, porém. Um golpe de vento mais forte e, como cabras monteses ligeiras e irrequietas, espalhavam-se pelo céu, deixando entre si, mais e mais largo, até ao horizonte, o espaço por onde o sol se despenhava, deslizando pelas cores molhadas do arco-íris.
E o trigo verde ia crescendo. O Sol passou a nascer mais à esquerda de quem o via sair do horizonte num pulo cor-de-rosa sanguíneo. Era como um balão cheio, largado subitamente de uns dedos misteriosos que se escondem por detrás dos últimos cerros que viravam para o céu os lombos azulados, quase a desfazerem-se na distância.
O chão foi perdendo a humidade e as patadas dos bois já não se vincavam a direito na lama; agora esparrinhavam para os lados um pó que ficava suspenso no ar a poucos centímetros do solo e que caía de leve no caminho, sob o peso escaldante do
meio-dia.
Foi quando, entre o trigo, começaram a surgir manchas de sangue, que sangue pareciam as grandes corolas das papoilas, que subiam, direitas, nas delgadas hastes, com a sua cápsula solitária ao centro, grave e majestosa como se dirigisse a harmonia dos trémulos movimentos das pétalas largas.
O trigo amarelecia e, sobre o ouro derramado nos campos, cintilavam sempre os pingos de tinha vermelha das papoilas. Mas até mesmo estas perderam o vigor e a cor. E isso foi quando as curvas denteadas das foices começaram a cortar as hastes do trigo, num raspa-raspa contínuo de manhã à noite, desde que o Sol borbulhava no horizonte até que se afundava atrás dos ceifeiros, atirando-lhes sobre o trigo ainda não ceifado as suas esguias sombras deformadas.
Quando as últimas paveias foram para a eira, morreram nas searas as últimas papoilas que a foice tinha deixado vivas. As cápsulas secas estalaram num ruído ligeiro, espalhando em volta as sementes, que ninguém queria e que para nada serviam. E, então, o caule das papoilas dobrava-se lentamente para a terra, mais e mais ressequida e ardente, e morria entre o restolho duro, ainda agarrado ao chão gretado e pulverulento.
Era por esta época que Dionísio deixava de aparecer na quinta com a irmã.
As ascensões deliciosas aos altos fardos do palheiro, com o alvoroçado incidente da perseguição a um rato esguio e espantadiço, as pescas maravilhosas no barco desconjuntado da beira do rio, as caçadas às borboletas por entre as couves da horta e as laranjeiras do pomar eram substituídas pelas penosas horas de esforço sobre as páginas impassíveis e graves dos cadernos e dos livros escolares.
Com os olhos semicerrados, Dionísio balbuciava, hesitante, voltando ao princípio constantemente, os nomes dos cabos da costa de Portugal. O cabo da Roca era o seu Bojador: para baixo tudo era confusão e mistério e, quase sempre, indicava o de São Vicente quando devia enunciar o Espichel.
Desforrava-se ao recitar os afluentes do Tejo, começando pela margem direita para não se enganar. Sabia-os todos. Quando chegava à vez do rio que passava junto da aldeia, pronunciava-lhe o nome numa voz clara e nítida, orgulhosa, como se lhe coubesse a honra de ser o primeiro a dizê-lo.
Diante da irmã, que assistia às lições soletrando humilhada a sua pobre cartilha, começava a declamar as dinastias da História de Portugal e os nomes dos Reis e dava à voz um tom profundo e significativo para dizer os cognomes do Conquistador, do Povoador, do Lavrador, do Magnânimo, até D. Manuel II. Ao pronunciar o cognome de D. Afonso II, inchava as bochechas para provar a imensa gordura do Rei; e a Batalha de Aljubarrota tinha na sua voz ressonâncias épicas: era a História o seu forte, a matéria em que mais brilhava.
Este ano, porém, as dificuldades seriam maiores. Era o exame da quarta classe, era o presidente do júri a mirá-lo por detrás dos óculos, num fuzilar constante e inquieto. Era para si o espectáculo a que assistia desde que ia à escola. Desta vez, cabia-lhe um papel de actor e, durante meia hora, havia de representá-lo em cima do estrado, daquele estrado tão alto de cuja borda escorregara, no ano anterior, o filho do boticário. E todo o seu terror era o escorregar também e ver a aula a rir, enquanto ele, no chão, sentiria o saber, penosamente acumulado e retido, fugir, espantado pela galhofa. Era este o seu medo.
Para não pensar em tal, atirava-se à Gramática, à Geometria, à Aritmética, resmoneando no meio dos predicados e dos complementos directos, agitando-se entre largas folhas de papel cheias de quebrados e de decimais, sofrendo intensamente para distinguir uma tangente duma secante. E quando não conseguia decorar todas aquelas frases que teria de repetir lá, no exame, punha-se a chorar, debruçado sobre os livros, enquanto a irmã o olhava entristecida, como perante um mal de que não soubesse a cura.
Quando chegou o dia do exame, levantou-se muito cedo, ainda no quarto se espalhava uma penumbra suave cortada pelas delgadas lâminas luminosas que entravam pelas frinchas da janela. Em baixo, rente ao prédio, passava um chiar fino de carro de bois. E a voz do boieiro, falando aos animais, tinha um som consolador, que enchia o quarto de ruídos lentos que esmoreciam.
Com as pernas pendidas para fora da cama, a face apoiada nas palmas das mãos abertas como uma flor de que os dedos fossem as pétalas, Dionísio cismava, imóvel, numa concentração de espírito que lhe punha rugas na testa lisa. Sobre a mesa-de-cabeceira repousava, embrulhado na sua encadernação escura, um volume de Geometria Elementar. No chão, de lombada para o ar, com as capas abertas como as abas dum telhado, a Aritmética, a pavorosa e inútil Aritmética.
E Dionísio pensava sempre, com os pés nus roçando o tapete. Começou a balançá-los, primeiro levemente, depois descrevendo um arco de círculo cada vez mais largo, até quase roçar o livro caído no sobrado. E de repente, num impulso que lhe fez esticar os polegares dos pés, atirou um pontapé ao volume, que caiu mais à frente, aberto, voltando as páginas.
Dionísio saltou para o chão e tentou abrir a janela. O fecho resistiu e cortou-o, abrindo-lhe um golpe profundo na mão direita. Lacrimejou enquanto procurava um pano para estancar o sangue que lhe saltava da ferida, escorrendo pelos dedos, até ao chão. Começou a sentir-se vagamente assustado. Apertou o trapo com força e conseguiu impedir que o sangue corresse.
Então, sentou-se numa cadeira baixa, perto da janela, a chorar, muito infeliz e abandonado, naquele quarto enorme que era seu desde que findara o Inverno. Dormia ali sozinho, na sua cama, que, outrora, ficava sempre onde ficasse a da irmã. Ouvira dizer a mãe que era já tempo de ser um homem e que, portanto, deveria dormir sem companhia, a fim de perder o medo aos papões escuros que se ocultavam durante o dia nos desvãos da casa, para aparecerem à noite, envolvidos em grandes capas negras, que arrastavam pelo chão, por cima dos móveis, subindo aos altos cabides, onde ficavam à espreita, a noite inteira. Mas ele nunca tivera medo. Via-os, é verdade, aos tais papões, mas, apesar das carrancas ferozes que lhe faziam, sempre lhe restara coragem para animar a irmã, que se encolhia amedrontada na cama, pondo a almofada diante dos olhos, tapando por fim a cabeça com os lençóis.
Havia, com certeza, outra razão para assim o afastarem da irmã. Como é que ela se haveria agora com os papões? É verdade que a Benedita mudara a cama para o quarto dela, mas não lhe parecia que a criada fosse boa companheira para espantar papões.
Suspirou, olhando para a mão envolvida no trapo branco, e desenrolou-o. A ferida tinha fechado, obrigada pela pressão feita, mas, quando a descobriu, uma gotinha de sangue aflorou e deslizou rapidamente pelas costas da mão. Tornou a enrolar o trapo e saiu para o corredor deserto e silencioso. Colou o ouvido à porta do quarto da irmã. De dentro não vinha qualquer ruído. Ia perguntar a si mesmo que horas seriam, quando o relógio da sala bateu, pausadamente, sete pancadas. Sete horas! Mas já devia estar toda a gente a pé! Como é que não ouvia ninguém?!
Dispunha-se a voltar para o quarto quando ouviu vozes, vindas do lado da escada. Era a mãe, acompanhada de Benedita. Correu para lá, com a mão escondida atrás das costas. Benedita espantou-se de o ver levantado:
- Viva! Como se levantou cedo, hem?!...
Dionísio ergueu-se nas pontas dos pés para beijar a mãe e a criada. No movimento, deixou ver a mão ligada, com o pano já manchado de sangue.
Inquieta, Maria Leonor perguntou, enquanto desfazia a atadura:
- Mas o que foi isto, filho? Como te cortaste assim?
Num nervosismo que o fazia engasgar, tartamudeando, Dionísio explicou o desastre: que puxara o fecho, mas que lhe escapara a mão e que fora de revés contra um prego da janela. E fizera aquele golpe.
Benedita foi buscar tintura de iodo e gaze e fez-lhe um curativo apressado, tremendo toda, dizendo que até a ferida podia infectar.
Dionísio, sob o olhar da mãe, suportou o ardor do medicamento com valentia, mordendo os beiços para não gemer. As lágrimas assomavam-lhe, ferventes, mas ele cerrava os olhos apertando as pálpebras com força, enquanto Benedita ia passando a ligadura entre os dedos e por cima do golpe, jeitosamente, com um carinho leve que o consolava.
Quando a criada concluiu, mirou a mão. A dor já tinha passado e sentiu um certo prazer íntimo vendo a mancha branca da ligadura sobre a pele morena.
Desceu com a mãe ao rés-do-chão, enquanto Benedita ia acordar a irmã. Na sala de jantar o pequeno-almoço estava na mesa.
Maria Leonor instalou-se numa cadeira e chamou o filho para junto de si. Ele foi e
sentou-se-lhe ao lado, inclinando a cabeça para o regaço da mãe. Ali se deixou ficar, sentindo as pálpebras cerrarem-se docemente, num descanso enorme, como se, daí a duas horas, não tivesse que enfrentar aqueles três homens barbados, que lhe fariam perguntas aterrorizadoras. O tiquetaque do relógio soava-lhe aos ouvidos como uma melancólica cantiga de embalar, que o ia adormecendo. As mãos de Maria Leonor percorriam-lhe o cabelo num afago suave, acalentador como um berço e morno como as asas duma pomba.
Passos precipitados na escada despertaram-no daquele remanso. Júlia, com o cabelo molhado e descalça, irrompeu na sala, perseguida por Benedita, que empunhava um pente.
Dionísio deixou o regaço da mãe para atender a irmã, que se lhe atirou aos braços, quase o derrubando. Encheu-o de perguntas sobre o golpe, espantando-se para a ligadura manchada, querendo por força saber se doía, se lhe custara muito, qual fora a janela...
Benedita conseguiu por fim arranjá-la e sentaram-se todos à mesa. Comeram depressa e sem vontade. Dionísio mastigava, resignadamente, o seu pão com manteiga, levantando, de vez em quando, os olhos para o relógio, que continuava o seu tiquetaque, empurrando os ponteiros com ligeiros arrancos vagarosos. Júlia abria para o irmão uns grandes olhos espantados, por vê-lo tão sério, com o nariz caído para a chávena de leite, que ficava em meio.
Quando deixaram a mesa, viram Jerónimo, de barrete na mão, que curvava a cabeça à entrada da sala, anunciando que a charrette estava pronta. Quando o menino quisesse...
Dionísio subiu ao quarto com Benedita. Ia mudar de fato e pentear-se, que nem isso fizera. E buscar os livros...
Quando desceu a escada, já Maria Leonor o esperava à porta. Júlia teimava que também queria ir ver o exame de Nísio! E chorava porque a mãe lhe dizia que ficaria em casa....
Subiram para a charrette. No limiar da porta, Benedita segurava Júlia, que batia o pé, furiosa, gritando que havia de ir.
Jerónimo içou-se para o seu lugar e perguntou:
- Podemos ir, minha senhora?
- Vamos... - suspirou Maria Leonor.
O abegão agitou as rédeas sobre o dorso do cavalo e num solavanco lento a charrette partiu. Lá atrás, Júlia chorava, pedindo a Benedita que a largasse, por tudo...
Quase ao sair o portão, Dionísio voltou-se para trás e acenou. A irmã correspondeu, de longe, num adeus precipitado e ansioso, e logo se escondeu, soluçando, entre as saias da criada.
A charrette seguia ao trote cadenciado do cavalo pela estrada branca de macadame, entre os campos ceifados, duma amarelidão de restolho, mais acentuada e viva sob a luz forte do Sol. No banco da frente, Jerónimo, com a borla do barrete caída para a testa, para proteger os olhos da luz, afagava as orelhas do cavalo com um chicote. A cada vergastada, o animal sacudia a cabeça num guizalhar estridente e alargava o trote. De vez em quando, ao passar por baixo dos plátanos, que se perfilavam à beira da estrada, relinchava, gozando a sombra esgarçada, semeada de manchas luminosas. Sob o pêlo castanho, o jogo dos músculos ritmava o esforço da corrida. E a charrette, calcada de borracha, saltava ligeiramente e quase sem ruído sobre as pedras miúdas da estrada, num deslizar constante e infatigável, deixando para trás a distância.
Batiam no relógio da torre os três quartos depois das oito, quando o carro entrou na povoação. O cavalo alçou a cabeça, levantou os joelhos como para martelar o chão e irrompeu na praga, ofegante, num alardear de energias, que fazia brilhar de contentamento os olhos de Jerónimo. Só Dionísio não dava importância ao menear do cavalo. Absorto, ia ruminando os cabos da costa de Portugal...
Maria Leonor mandou parar a charrette ao pé da tenda. Queria encomendar algumas massas e saber se a semente do aipo já viera. O Joaquim Tendeiro acorreu pressuroso, esfregando as mãos num gesto de satisfação radiosa, sacudindo com a aba do guarda-pó uma cadeira, para Maria Leonor se sentar. Mas a freguesa tinha pressa. E, feita a encomenda, saiu e subiu para o carro, ajudada por Dionísio, que descera para estirar as pernas e afagar, enfim, o animal. O Joaquim veio até à porta, todo mesuras, e ao ver o pequeno perguntou, abrindo os lábios num sorriso que rescendia adulação:
- Então, o examezinho, não é verdade, menino Dionísio?
Dionísio olhou-o de soslaio e respondeu, pouco polidamente:
- É...
E o outro continuou:
- Assim é que se quer, assim é que se quer. Que esta terra precisa de grandes homens e o menino Dionísio há-de ser...
O resto da frase perdeu-se no estropear do cavalo, que arrancava sobre as pedras redondas da praça. E quando Dionísio se voltou, o guarda-pó cinzento do tendeiro ainda se agitava entre as ombreiras da porta, acenando respeitosos adeuses.
Quando a charrette estacou diante da escola e Dionísio saltou com a mãe, fazia-se a chamada dos alunos para o exame. Abriram caminho para chegar à acanhada sala de espera, onde se aglomeravam, de envolta com as crianças, os parentes que as acompanhavam. No silêncio da sala, no meio daquela gente apinhada que cheirava a terra e a suor, ouvia-se a voz aflautada de um dos professores, um homenzinho baixo e magro, de enorme calva luzidia, que se empertigava nas pontas dos pés sempre que repetia os nomes que ia lendo numa grande folha de papel almaço, toda rabiscada.
- Bento Simões!
E depois, mais alto, empertigando-se:
- Bento Simões!
- Pronto!
Um garoto moreno, de grandes cabelos negros pendentes para a testa, esgueirou-se entre os circunstantes e entrou na sala dos exames.
- Carlos Pinto!
Era um dos rapazes da família dos barqueiros. O pai, um homem grande e forte, de grossa camisola de lã, com a pele escura e gretada sob a barba rija, baixou-se rapidamente e despediu-se do filho com um beijo. E o rapaz entrou também.
O professor continuava:
- Catarino!
Era um enjeitado. Não tinha outro nome além daquele. Trabalhava em casa do Faustino barbeiro, que o recolhera por caridade, e com o salário das barbas ia estudar à escola.
Depois o professor elevou a voz, num esforço que lhe fez enrubescer a calva lisa, e chamou, ao mesmo tempo que sorria deferentemente:
- Dionísio de Melo Ribeiro!
Houve um sussurro na sala. E Dionísio, sentindo as faces em fogo e as pernas a tremer como os vimes do rio, despediu-se da mãe, que sorria, nervosa. E lá foi...
Mais uns rapazes foram chamados. E depois de toda a gente ter entrado para ocupar os lugares vagos, começou o exame. Numa sucessão lenta foram passando pelo estrado, perante os óculos do senhor inspector, todos os rapazinhos das primeiras filas. Apertados nas suas roupas novas, guardadas para aquele momento, balbuciando respostas entrecortadas pela necessidade constante de engolir a saliva, mostrando os tímidos rostos aos senhores do júri, os rapazinhos bisonhos foram, lentamente, deixando ali a prova do que conheciam do mundo e da vida, eles que nunca tinham saído do estreito horizonte da terra acanhada e pobre. Todos sabiam muito do que custa o pão antes de ser comido, todos conheciam o calor do Sol e o frio da geada, mas nenhum deles fazia uma ideia nítida do sentido das frases que dizia, procurando reconstituir as palavras do compêndio tão aborrecido e, a essa hora, tão desejado.
Em certa altura, entraram na sala o doutor Viegas e o padre Cristiano, e logo dois aldeões, sentados junto de Maria Leonor, se levantaram compreensivamente, para lhes darem lugar. O médico e o padre recusaram. E os homens sentaram-se, de novo, pouco à vontade.
Dionísio, quando viu entrar os seus dois amigos, sentiu-se apavorado. Como podia ele, agora, fazer boa figura, tendo ali, quase ao seu alcance, a mãe, o padrinho, o médico, toda aquela gente que o estimava, mas cuja presença era, naquele infeliz momento, um suplício?
Olhou timidamente para trás e viu todos os rostos atentos para o enjeitado, que estava no estrado, e sentiu um terror imenso ao pensar que o olhariam também assim, daí a pouco. Desviou a vista e fixou a mãe. Maria Leonor sorriu-lhe, e ele, perante o seu ar calmo e confiante, sentiu-se repentinamente seguro e confortado.
E quando o Catarino acabou, com o sacramental e pode sentar-se, quase não lhe buliu o coração. Sabia que era a sua vez agora, que nada podia evitar que fosse a sua vez.
Quando o seu nome soou na sala, com um ruído que lhe pareceu igual ao do desabar de um tecto, levantou-se e caminhou para o estrado. No curto trajecto ia relembrando os cabos da costa de Portugal. E, de repente, suspendeu-se, aterrorizado. Faltava-lhe um. Lembrava-se perfeitamente de que eram onze e agora não conseguia contar senão dez.
Respondeu correctamente às primeiras perguntas que lhe fizeram. Depois, pouco a pouco, sentiu a confiança voltar. E foi brilhante. Apenas se mantinha o ponto negro do seu esquecimento e, no intervalo das respostas, punha-se a relembrar velozmente os malditos cabos: começava do Norte para o Sul e do Sul para o Norte, mas o resultado era sempre o mesmo: faltava-lhe um. Debatia-se com este tremendo problema, quando o presidente do júri, satisfeito, o mandou sentar. Na sua profunda alegria quase não ouviu: deixou-se ficar a olhar o professor, prestes a agradecer-lhe não lhe ter perguntado os cabos. Foi preciso que lhe dissessem que podia sentar-se. Voltou para o banco a tremer de alegria e, quando olhou para a mãe, viu-a acenar-lhe docemente. Sentou-se, de olhos cheios de lágrimas, muito corado, mal se atrevendo a olhar à sua volta.
O resto foi depressa, mas a Dionísio a espera pareceu de séculos. Quando acabou, enfim, saíram todos para o pátio, onde, em tempo de aulas, os rapazes saltavam o eixo e jogavam o «homem».
Lá dentro, o júri resolvia.
Dionísio, junto da mãe, que o acariciava, tagarelava com ela e com o médico e o padre. Estava exaltado, febril. Brilhavam-lhe os olhos numa animação imensa, numa exuberância impetuosa. A mãe e os dois homens deixavam-no falar, sorridentes, vagamente comovidos.
Quase ao lado deles, o Pinto barqueiro, pai, de braços cruzados sobre o peito largo e valente, ouvia o filho, com gravidade, tirando largas fumaças do seu cigarro de onça.
Trazia as calças arregaçadas até aos joelhos, mostrando as canelas lisas e morenas. Com os pés descalços traçava na poeira do chão, nervosamente, largos sulcos.
A um canto do pátio, o enjeitado remexia nos bolsos, inquieto. E todos os garotos passeavam de um lado para o outro, de nariz no ar, farejando os ruídos que vinham da escola. Duas mulheres discutiam os méritos dos respectivos filhos, que jogavam encarniçadamente o pião.
De súbito, todas as conversas cessaram. Abrira-se a porta e, na abertura, assomava o professor calvo. Tinha um sorriso satisfeito quando anunciou os resultados. Fora um dia feliz, aquele: todos aprovados. Três ou quatro distinções, uma delas para Dionísio.
Quando o professor acabou de ler, toda a gente rebentou em risos e cumprimentos. As mães beijaram os filhos, chorosas, agora que o grande perigo passara. Os pais deram um cachação amigável nos garotos, que se encolhiam sob a carícia um pouco pesada. E todos saíram para a rua, falando alto e rindo. Os rapazes caminhavam à frente, radiosos, os peitos levantados, um ar de importância precoce no gingar dos ombros, e uma irreprimível vontade de pular furiosamente e de gritar de gozo.
Dionísio, quando ouviu a sua distinção, agarrou-se à mãe a chorar e a rir, com a mesma alegria dos seus companheiros pescadores e aldeões. O médico e o padre sorriam. E foram cumprimentar o professor, que ainda se detinha entre as ombreiras da porta, olhando, risonho, o desfazer do grupo, com o seu papel dos resultados.
Maria Leonor apertou-lhe a mão:
- Agradeço-lhe, senhor professor, a sua bondade e o que ensinou ao meu filho...
Corando, o professor respondeu:
- Oh, minha senhora, por quem é!... Eu não fiz mais que o meu dever e o menino Dionísio foi sempre bom aluno. Mas hoje estou, realmente, contentíssimo! Imagine, minha senhora, que o senhor inspector me deu os parabéns pelo comportamento dos rapazes!... Estou radiante...
Despediram-se, deixando o excelente homem encostado à porta a atender o Catarino enjeitado, que também lhe queria agradecer. E o padre observou depois:
- Não desencareço as tuas palavras, Maria Leonor, mas creio que nenhuns agradecimentos serão hoje mais gratos ao mestre que os do Catarino - e olhando para o médico: - Isto, se ainda resta, aos homens do meu tempo, aquela pequenina parcela de sentimento que faz a vida doce...
O médico sorriu:
- Não será difícil encontrar num professor primário essa parcela de sentimento. Eles vivem entre crianças e acabam sempre por ter, também, qualquer coisa de infantil. O pior para a humanidade é que nem todos os homens são professores primários... De resto, se assim fosse, não haveria ninguém que quisesse aprender.
Chegavam junto da charrette. E lá do alto do seu banco, já o abegão se debruçava, ansioso:
- Então, minha senhora, o menino?!...
E Maria Leonor, num sorriso:
- O menino ficou distinto, Jerónimo. Sabe o que quer dizer?
O abegão fez um trejeito de suficiência e respondeu, enquanto tirava de debaixo do focinho do cavalo a alcofa da palha:
- Sei, com certeza. Ficou bem, não é?
Foi Dionísio quem lhe respondeu, seguindo-o em volta do animal. Entretanto, Maria Leonor despedia-se:
- Bem, então, espero-os à noite. Depois do jantar, já que não podem antes...
Içou-se para a charrette, apoiada ao ombro do filho. Depois de todos sentados, Jerónimo floreou o chicote sobre os flancos do solípede, que largou num trote triunfal. Dionísio, ao lado da mãe, cantava. À frente, o abegão, assobiando finamente, incitava o cavalo, que galgava a estrada no bater claro das patas jogadas à frente, briosamente.
Entraram, assim, na Quinta, seguidos pelo ladrar de dois cães. Abriram-se janelas na casa. Benedita apareceu a uma delas, com Júlia. Os de baixo acenaram e Júlia, deixando a janela, precipitou-se pela escada, atirando-se aos braços do irmão. Ela sabia que ele ficara bem. Não podia ser de outro modo...
Os criados acorreram, também. E todos festejaram o menino quando souberam. Dionísio entrou em casa, aclamado, como um pequeno rei. Benedita beijou-o chorando, e ele, caindo em si, ficou a olhar para a criada, num pasmo mudo e agradecido. Sentia-se diferente e importante e, olhando em volta, viu a casa e os criados com outros olhos, com os olhos de quem tem o poder do Conhecimento e da Ciência.
À noite, depois do jantar, chegaram o médico e o padre. E após novos parabéns e felicitações, entraram na sala. Sentaram-se em volta da grande mesa de mogno polido, onde floria um ramo de garridas dálias vermelhas. Numa das paredes havia um retrato de Manuel Ribeiro. E nenhum dos presentes pôde evitar um rápido olhar para ele. O médico, com as mãos apoiadas no castão da bengala, demorou o olhar pensativo, e o padre moveu lentamente os lábios como se fosse falar. Ambos se calaram, porém. E foi Maria Leonor quem iniciou a conversa.
- Sabem qual foi a primeira coisa que o Dionísio fez quando chegou a casa?
- Que foi? - quiseram saber, interessados.
- Subiu a escada a correr, como um doido, e meteu-se no quarto. Palavra que me assustei quando o ouvi gritar lá em cima, daí a um bocado: «São Vicente, São Vicente!
Dionísio riu. E o padre perguntou, curiosamente:
- Mas o que era?
- Contou-me depois que no exame se esquecera de um dos cabos da costa de Portugal e que, por mais esforços que fizesse, não se recordava do nome. Logo que chegou foi ver na Geografia qual ele era. Era o de São Vicente...
O médico riu, prazenteiro. E a conversa continuou, mais ligeira. O padre quis saber com um «E agora?» o que faria o Dionísio. Foi Maria Leonor quem respondeu:
- Em primeiro lugar, naturalmente, irá para o liceu. Depois, que escolha a carreira que desejar. Tudo se há-de fazer. Só não sei ainda para casa de quem hei-de mandá-lo - voltou-se para o médico: - Falando francamente, doutor, tinha pensado em seu irmão Carlos. Gostaria que o doutor se interessasse, se não houver qualquer inconveniente, claro!...
Viegas franziu, levemente, as sobrancelhas e respondeu, catarroso:
- Hum... Não me parece que haja qualquer inconveniente. E se o Dionísio for para Lisboa, não encontrará melhor casa, com certeza. De resto, terá um companheiro pouco mais velho que ele e que o ajudará: o meu sobrinho João...
Maria Leonor ia agradecer, mas o médico continuou, apressadamente:
- No entanto, quero advertir-te de uma coisa em que parece não teres pensado. A mudança de ambiente fará talvez sofrer o Dionísio. Isto seria o menos importante, mas a verdade é que ele vai para uma casa onde se usam métodos de educação muito diferentes dos teus. Somos muito parecidos, eu e meu irmão. Ninguém lhe irá exigir que dê graças a Deus pelo pão que comer. Pelo contrário: se o fizer, lembrar-lhe-ão, certamente, aqueles que as não podem dar, porque não comeram. Vê, portanto, onde te vais meter!...
O padre Cristiano sorria docemente ouvindo o médico e, fitando o rosto sonolento de Dionísio, que cabeceava, alheio aos graves problemas que zumbiam sobre a sua cabeça, observou:
- Ai, doutor, doutor, essa preocupação mata-o. Que abismos está já abrindo à frente do nosso Dionísio. A Maria Leonor resolverá, mas, quanto a mim, creio não haver perigo. Seu irmão Carlos não tem o direito de impor as suas ideias a um pensionista. Bem vê, eu não o conheço, mas não faço tão mau juízo dele... Pois não lhe parece?...
O médico teve um gesto de mau humor e pareceu ir dar uma longa resposta. Maria Leonor preparava-se já para intervir, mas ele apenas respondeu:
- Sim, parece-me... deve ter razão!...
Maria Leonor interrompeu o silêncio que se fez após as últimas palavras de Viegas, dizendo:
- De qualquer modo, o doutor faça-me o favor de saber, junto do seu irmão, com o que posso contar. Veremos a seguir a parte material do caso... E quanto ao perigo que o meu filho possa correr em matéria religiosa, confio. Não receio correr o risco - mudando de tom, continuou: - E agora, expulso-os. Vai dar meia-noite e não quero abusar da vossa paciência e da vossa amizade!
Levantaram-se com um arrastar de cadeiras e caminharam para a porta. Benedita, que acorrera da cozinha à chamada de Maria Leonor, alumiava. E enquanto as crianças se deixavam ficar na sala encostadas à mesa, já adormecidas, e o padre ficava para trás, preso pelo reumatismo, Viegas abeirou-se de Maria Leonor e murmurou:
- Não sei que diacho de escrúpulos são estes, mas peço-te que te lembres que o Dionísio crescerá, que os livros e a vida hão-de dar-lhe perspectivas diferentes das actuais e que as suas crenças infantis sofrerão rudes abalos. E ele não resistirá, por certo...
Maria Leonor ouviu, calada, e respondeu, também em voz baixa:
- Olhe, doutor, quer que lhe fale francamente? Nem eu sei se desejaria que ele resistisse. A única coisa que sei é que nada sei! Recorda-se de quem disse isto?
O médico, que abrira os olhos espantados às primeiras palavras, sorriu depois e respondeu:
- Vá lá uma referenciazinha clássica!... Pois claro que me lembro, foi o velhíssimo Sócrates. E desde então não avançámos um passo sequer. Adeus, Maria Leonor!... - e voltando-se para o padre: - Vamos, meu amigo, meu semeador de ilusões?
O padre riu-se, mancamente:
- Vamos lá, senhor ceifeiro das ilusões que eu semeio!... Saíram sorridentes, questionando. E partiram.
Enquanto Benedita colocava na porta a pesada tranca de ferro, Maria Leonor subiu, devagar, ao andar superior, levando consigo um castiçal de três velas que espalhava uma claridade morta em redor e lhe cavava grandes sombras no rosto. Ao passar diante do espelho, não pôde reprimir um movimento de susto ao ver reflectida, no cristal, a sua face pálida, destacando-se como um borrão branco do negrume dos fatos e do aposento. Benedita subiu atrás dela com as crianças, que dormiam já, no colo. A mãe beijou-as.
Entrou no escritório. Pousou o castiçal sobre a secretária, imobilizando as sombras que se agitavam nas paredes e no tecto. Sentou-se numa cadeira de alto espaldar e reclinou-se. A cabeça descaída para trás repuxava-lhe os músculos do pescoço e dava-lhe à fisionomia um aspecto duro, fatigado, envelhecido. Os cabelos desciam-lhe ao lado das faces numa moldura doirada e brilhante, que contrastava ainda mais com o rosto. Um suspiro lento, doloroso, lhe levantou o peito.
Ergueu-se da cadeira e acercou-se da secretária. Numa pequena cesta de vime estava o correio do dia. Com a animação que se apossara de si desde manhã nem se lembrara de o ler. Remexeu distraída num jornal, abriu dois sobrescritos donde tirou algumas facturas que meteu numa gaveta e agarrou depois uma carta estreita e comprida, a única que restava. Procurou-lhe o carimbo: Porto. Abriu-a lentamente e começou a ler. Era do cunhado:
<<Leonor: Parto para aí no fim da semana. Vou com demora e é mesmo natural que passe em tua casa todo o tempo que tirei aos meus deveres para gozar umas férias. Começo a aborrecer o Porto e ando a pensar em fixar-me. Os clientes não abundam e o meu talento de curar também não é famoso. Hesito, no entanto, em tornar-me um médico de aldeia, como, o nosso Viegas, e estou convencido de que me falta a sua persistência de apóstolo barbudo. Trago o moral bastante deprimido. Espero que estas férias me restabeleçam, a mim, já que não consigo restabelecer os meus doentes.
<<Adeus, até breve. Beija, por mim, os pequenos. Um abraço afectuoso. António.»
Maria Leonor pôs a carta de lado com um vago sorriso e, agarrando de novo o castiçal, saiu para o corredor a caminho do seu quarto.
Durante uma boa parte da noite diligenciou dormir, sem o lograr. Caía sobre a casa uma atmosfera morna e entorpecente como a respiração das telhas rechinadas pelo calor do dia. Abrira as janelas de par em par, sôfrega de uma aragem de frescura que a madrugada trouxesse, mas por elas apenas entrava o bafo cansado dos campos secos. Da cama, via os traços esverdeados dos pirilampos que sulcavam o escuro e, de vez em quando, o esvoaçar silencioso e macio dos morcegos, que passavam rentes às janelas. E por mais de uma vez o seu coração bateu, assustado, quando, lá fora, soava o pio curto e gargalhado das corujas.
Os ruídos nocturnos do campo tinham o condão de acordar no seu íntimo todos os terrores da infância. Contra os raciocínios da sua mente de mulher esclarecida, levantavam-se os pávidos medos nascidos do mistério da natureza imensa, mergulhada nas trevas, encobrindo na sua profundidade ignorada as forças inconscientes e irreprimíveis da criação. Por vezes, caminhando à noite no campo, parecia-lhe sentir debaixo dos pés o arfar convulsivo da terra. O vento que passava sobre as ramagens, rasgando-se contra os espinhos e roçando-se nas maciezas da erva, era o ofegar cansado do parturejo contínuo do solo. No seu pasmo mudo diante do trabalho cego da natureza havia o medo do desconhecido, o terror absurdo e total dos primeiros homens perante a primeira trovoada e o primeiro abalo de terra. E a sua alma comprimia-se, apavorada, subjugada a inerme, quando via descer do céu num voo rápido as asas negras dum noitibó solitário.
Com os olhos fitos na abertura das janelas, varando a escuridão, analisava, o mais friamente que lhe era possível, os medos que sentia e o seu imenso absurdo. Quando um som ou uma imagem exterior lhe iam acender no cérebro um pensamento, donde logo surgia o encadear do susto, prendia-o ferreamente e só o largava quando, pela força da sua especulação, o deixava vazio e sem significado.
Flutuava já, por fim, entre o último pensamento e o sono, quase a cerrar as pálpebras cansadas e a velar o entendimento que bruxuleava perto da inconsciência, quando o ranger tímido duma porta a fez sentar na cama, vigilante. Apurou o ouvido. O som continuava por intervalos, suspendendo-se para logo persistir, mais fino e atrevido. Ao mesmo tempo, da alameda, veio o estalar da areia pisada por passos cautelosos. O ranger da porta cessou de súbito e, no silêncio que se fez, Maria Leonor ouviu distintamente o tinir surdo da tranca. Saltou da cama quase a gritar.
Lá fora a areia já não estalava, mas Maria Leonor tinha a certeza de que junto da porta estava alguém para entrar, alguém a quem uma pessoa de dentro facultava a entrada. E dominando os nervos, premindo os lábios com as palmas das mãos crispadas, foi, alta e branca na sua longa camisa, por entre a escuridão do quarto, até à janela.
Debruçou-se. Encostado a um dos pilares do alpendre estava um homem. Tinha o rosto voltado para a porta, mergulhado na sombra, e, sobre a camisa branca que vestia, a Lua nascente punha claridades lívidas.
Com um rangido grave e decidido a porta abriu-se. E quando Maria Leonor, trémula de susto, esperava ver o homem precipitar-se avidamente no interior da casa, viu-o abrir os braços para alguém que saía, uma mulher.
Maria Leonor abafou a exclamação que lhe ia pular dos lábios e quedou-se estupefacta a olhar os dois, abraçados e imóveis. Mas logo se moveram, rápidos, e atravessaram a alameda, perdendo-se, por momentos, entre as sombras das acácias, aparecendo adiante, no espaço limpo e inundado de luar, que se prolongava até ao palheiro. Desapareceram no boqueirão largo da porta.
De novo o silêncio amortalhou a casa. E as estrelas brilharam no céu, do lado do ocidente, como a mirar-se no espelho que surgia por detrás dos montes do outro ponto cardeal. A pouco e pouco, os ruídos do campo voltavam na mesma cadência e com o mesmo mistério.
Havia um latejar voluptuoso, uma doçura cálida, que perpassavam envoltos nas aragens quentes da noite. E tudo, ruídos e aragens, parecia vir da Lua enorme, que ia subindo devagar, num esforço enorme, que a empalidecia cada vez mais.
Um pirilampo entrou pela janela e foi quase enredar-se nos cabelos de Maria Leonor. Pairou no quarto, subindo e descendo, no tremeluzir ansioso do abdómen, e tornou a sair para o ar livre. Maria Leonor nem nele reparou sequer. Com os olhos fitos no palheiro, por nada deste mundo deixaria de olhar para lá. O casarão tinha um aspecto calmo e inexpressivo, como se encerrasse dentro das paredes grossas apenas os restos das colheitas do pão. Mas ela sabia o que se estava passando lá dentro e sentia-o em todo o seu corpo, que vibrava retesado contra o peitoril, num tremor irreprimível. Todo o sangue lhe afluía ao cérebro em turbilhão. Cuidava desfalecer, com as pernas moles e fracas, como rodilhas, prestes a cair de joelhos, sufocada. A razão gritava-lhe que saísse dali, descesse a escada e fosse trancar a porta, recusando a entrada à impura que lhe emporcalhava o lar, mas os sentidos amarravam-na à janela, retinham-lhe os olhos nas paredes brancas do palheiro e torturavam-lhe os nervos, tentando, numa febre doida, ver, descobrir o que se estava passando lá!
E ficou assim, rente à janela, torturada duma revolta surda, até que, de novo, os dois surgiram, olhando em volta, receosos, sob o arco da porta do palheiro. Eram duas manchas vivas, claras, movendo-se sobre o fundo escuro do portal. E de repente as duas manchas fundiram-se numa só. Abraçavam-se. Maria Leonor deu um gemido fraco, soluçante, e enclavinhou as mãos furiosamente até à dor.
Recuou ao ver que regressavam. Atravessaram de mãos dadas o terreiro enluarado e de novo se detiveram, apertados um contra o outro, na sombra das acácias. Depois, lentamente, sedentos ainda, separaram-se, deixando cair ao longo do corpo as mãos presas, palmas com palmas, despegando os lábios no último beijo. Ele partiu abrigado no escuro, por detrás dos troncos rugosos que montavam guarda a proteger a fuga, e ela ficou, figurinha clara e cintilante, ansiosa, até o ver desaparecer na noite.
Depois, devagar, hesitando a cada passada, com os pés chumbados num desfalecimento dorido, voltou para casa. Quase ao entrar, ergueu o rosto para as janelas numa precaução inconsciente. Nesse momento, Maria Leonor viu-lhe a cara. Era Teresa.
Recuou para o leito, atordoada, num pasmo que a não deixava pensar. Tornou a ouvir, como num pesadelo, o deslizar da tranca sobre os suportes, o ranger da porta e, depois o silêncio. E, absurdamente, atirou-se para os lençóis, a dormir um sono pesado e longo, como o duma fêmea saciada e exausta.
Noite alta, acordou sobressaltada, com o coração a pulsar numa agonia horrível. Tivera um sonho abominável, e agora, desperta, com os olhos esgazeados para o rectângulo claro da janela, torcia-se na cama, com os dedos enterrados nos flancos, comprimindo-os brutalmente. Sentia-se enlouquecer. O aroma acre da noite entrava em ondas perfumadas pela janela e inundava-a numa carícia lenta e insidiosa, como os afagos duns dedos macios e fortes. Passavam-lhe no cérebro pensamentos que a faziam enlanguescer e lhe levavam aos lábios gemidos doces, palavras inarticuladas, balbuciadas por entre as lágrimas que lhe corriam e secavam nas faces ardentes.
E no silêncio da casa pensativa, alheia ao seu martírio, Maria Leonor levantou para o tecto os punhos cerrados, num desejo de morrer naquela agonia voluptuosa, entorpecida pelos perfumes da noite, numa ânsia de dissolver o corpo e o espírito no vinho quente e embriagador que lhe corria nas veias.
Foi, realmente, no fim da semana, no sábado, que chegou António Ribeiro. Era à tarde, cerca da noite, quando o céu se arroxeava devagar, passando do laranja violento do poente para o violeta desmaiado do anoitecer. A carroça que fora buscar António Ribeiro estacou à porta, na beira da valeta. E quando ele saltou agilmente do assento onde viera conversando com Jerónimo, Maria Leonor veio recebê-lo no limiar, desejando-lhe as boas-vindas num leve abraço.
Enquanto o abegão, auxiliado por dois criados, descarregava as grandes malas de coiro que enchiam o bojo da carroça, António, ao lado da cunhada, entrava em casa. No meio da sala de entrada aprumou o busto e deitou um olhar em redor como que procurando alguém. Os olhos embaciaram-se-lhe numa comoção intensa, mas logo sorriu vendo em frente, numa formatura algo desalinhada, o pessoal da casa. Benedita, numa ponta da fila, olhava-o duramente, quase malévola, com um brilho irónico nas pupilas. Do outro lado, Teresa fitava, por cima dos ombros de António Ribeiro, o labor dos homens que rebocavam, ofegantes, as malas para dentro de casa. E havia no seu olhar negro uma ternura líquida e embevecida que lhe inundava o rosto de felicidade.
O cerimonial da recepção foi interrompido, de repente, pelo deslizar de Dionísio pelo corrimão abaixo, desde o andar de cima. Júlia, ao lado dele, descia a escada numa corrida, tentando dirimir definitivamente um velho pleito: era mais rápido descer pela escada, pelos processos naturais e prosaicos de quem se serve dos degraus, ou recorrer à superfície escorregadia do corrimão, com prejuízo, embora, dos calções e da integridade da parte do corpo que os mesmos calções protegiam?
Ainda desta vez nada ficou resolvido: caíram os dois ao fundo da escada e foram beijar o tio.
A formatura dos criados desmanchou-se e cada qual foi à sua vida. Apenas Teresa se aproximou da porta, tentando auxiliar a entrada dum saco de lona que transpunha o limiar aos ombros de um dos criados. A mão que levou a uma das pegas do saco ao ajudar, demorou-se, tardia e acariciadora, sobre a mão forte e morena do homem. E ficaram ambos, por segundos, com os olhos presos e as mãos unidas, num abraço de almas sólido e perfeito.
Ao lado do cunhado, enquanto subia a escada, Maria Leonor voltou a cabeça para a porta, onde as silhuetas de Teresa e do namorado se salientavam a negro no fundo violeta do céu. Pareceu-lhe ver os lábios dele moverem-se, marcando, talvez, um encontro no palheiro, naquele palheiro onde ela fora no dia seguinte ao da sua descoberta da ligação da criada, levada por uma curiosidade mórbida a procurar o sítio, as palhas amorosas que tinham aquecido os dois corpos moços e ardentes.
Tornou a olhar em frente, para responder às perguntas do cunhado, que queria saber da saúde dela e dos garotos. Respondeu quase distraída que estavam todos bem, como via.
- E o nosso padre Cristiano, como passa do seu reumatismo? E o doutor Viegas, meu irmão em Esculápio?...
Que estavam bem, um e outro, o padre Cristiano mais aliviado com os calores do Verão e o doutor Viegas muito atarefado com as sezões que grassavam nos arrozais do rio e que chegavam até Miranda. E Maria Leonor, numa ideia súbita, lembrou:
- Ó António, já que vieste, parece-me que deves ajudar o doutor Viegas... Pelo menos, enquanto as sezões andarem tão malignas...
António franziu as sobrancelhas, contrariado, e respondeu:
- Ó menina, mas eu não venho para curar, nem para exercer medicina. Venho para descansar, compreendes? - Com um sorriso, Maria Leonor redarguiu:
- Compreendo perfeitamente!... Deixaste muitos doentes no Porto?...
António teve um riso alegre, alto e casquinado, que soou estranhamente na casa:
- Oh, não, Maria Leonor! Os meus doentes, por mais graves que estejam, sempre têm forças para fugir de mim... - e depois, mais sisudo: - Compreende, Maria Leonor. Eu
sou médico como poderia ser lojista, caixeiro-viajante ou saltimbanco. Não foi por meu gosto que me sentei nos bancos da Faculdade, nem por prazer que decorei os duzentos e tantos ossos do corpo humano. Foi o pai que quis um médico na família, já que o Manuel, que Deus haja, estava fadado para lavrador. E louvo os deuses por não se ter lembrado de me fazer padre!... O Manuel ficou com a Quinta, eu com o meu canudo de lata e as acções da Companhia das Águas. Ele trabalhou até impor o nome dos Ribeiros à estima do povo, até à satisfação de sentir-se qualquer coisa de positivo na vida; eu tratei de explorar o meu curso, matando o menos possível, porque não quero remorsos na consciência, e ganhando o mais possível, porque preciso de comer. Compreendes? É por isto que penso que não serei de grande ajuda para o nosso Viegas. Falta-me a chama, eu reconheço-o bem... Em todo o caso, umas sezõezitas sempre se poderão curar...
Maria Leonor, que suspirara ao ouvir falar no marido, respondeu, sorrindo com melancolia:
- És duma franqueza infantil! Essas coisas não se dizem, assim, tão naturalmente, nem mesmo quando se sentem...
- Ora, ora! Preferias talvez que arranjasse uns ares doutorais para te fazer um discurso sobre humanitarismo e vocações erradas?
Chegavam ao fundo do corredor. E aí, Maria Leonor, abrindo uma porta, disse:
- Bom, falaremos nisso com mais vagar, depois. Por agora, aqui tens o teu quarto de rapaz, pronto desde a tua carta. Eu desço. Espero-te para jantar...
Voltou as costas e foi pelo corredor fora, enquanto António a seguia com um olhar distraído. Ao dobrar a esquina para a escada, Maria Leonor olhou para trás e sentiu-se corar ao ver o cunhado, ainda fora da porta, a fitá-la. Desceu as escadas, rápida, chamando pela Benedita, apressando o jantar, quase feliz.
Na manhã seguinte, António acordou ao cantar dos galos na quinta. Pela janela que deixara entreaberta, segundo um preceito higiénico que sempre observava, entrava uma tira de sol, que se estendia no soalho até aos pés da cama. Esfregou os olhos, estremunhado com a intensidade da luz, e espreitou pela fenda, inclinando-se na beira do colchão. Apenas lobrigava um rectângulo azul do céu, onde surgia o contorno branco e suave duma nuvem, muito alta e leve, quase transparente, que passava devagar, boiando.
A beleza daquela nuvenzinha fê-lo sorrir, deliciado. Dilatou as narinas na sofreguidão do ar fino e fresco e logo pulou da cama, divertido, trauteando uma cantiga, Tirou do estojo a navalha e, depois de encher a cara de espuma de sabão, começou a barbear-se, assobiando. De vez em quando, deitava um olhar para fora e sorria, satisfeito, desfrutando o verde-amarelado das acácias e as telhas encarnadas do palheiro. Mais longe, em segundo plano, era o pomar, com as pequenas laranjeiras e os pessegueiros esgalgados. Depois dos limoeiros, estendia-se a perder de vista a terra de semeadura, onde, agora, apenas o restolho aparecia. Lá ao fundo, os montes severos onde o mato dominava e os coelhos pululavam. À ideia das caçadas futuras, António assobiou com mais força.
A barba estava quase pronta. Depois da última raspagem, a escanhoar, lavou a cara, regaladamente, na frescura da água da bacia.
Enquanto se enxugava, ia relembrando o jantar da noite anterior. Ocupara a cabeceira da mesa, naturalmente. Maria Leonor ficara à direita e Dionísio e Júlia à esquerda. Em toda a refeição soubera mantê-los alegres, presos das suas facécias e da sua palavra fácil e amável. Duas historietas que contara, quase tinham feito estalar de riso os sobrinhos que, em toda a noite, não o largaram, querendo por força brincar com ele, divertidíssimos e bulhentos. Depois, mais tarde, quando os garotos se foram deitar, cansados da brincadeira, ficara sozinho com a cunhada, conversando, enquanto tomavam café. As três janelas que deitavam para a alameda estavam abertas e, lá fora, passavam, num rumor indistinto de vozes e risos, os camponeses que, depois da ceia, voltavam para Miranda. Todo o serão o passara assim, recordando peripécias da infância, brinquedos de que fora, com o irmão, o protagonista heróico, enquanto Maria Leonor o escutava silênciosa e comovida. Dera já meia-noite há muito quando subiu ao quarto.
Curvado diante do espelho, ia pensando tudo isto, ao mesmo tempo que esfregava vigorosamente os braços molhados até às axilas, quando, de súbito, se suspendeu, imobilizando nos lábios o sorriso que os animava. Fez um gesto de contrariedade e murmurou entre os dentes:
- Idiota! Que disparates que se pensam!...
Veio até à janela, com a toalha pelos ombros. E com as mãos apoiadas no parapeito, lançou à volta, por sobre a quinta e as árvores, até ao horizonte, um olhar apreciador e contemplativo. Demorou-se uns instantes a ver duas andorinhas que traçavam no ar, com os seus corpinhos negros e alvadios, curvas de maravilhosa beleza, num enredar e desenredar constante, como embaraçadas numa teia invisível.
Voltou para dentro, e depois de concluir a toilette saiu.
Desceu as escadas cantarolando um pedaço de melodia popular. No caminho cruzou-se com Benedita, que se afastou Para o lado para lhe permitir passagem desafogada. Ia saudá-la, risonho, mas a saudação e a melodia morreram-lhe nos lábios ao ver as feições carregadas e duras da criada.
O contraste era tão flagrante, depois de ter acabado de gozar a beleza do campo e a magnificência do Sol, que não pôde deixar de olhar curiosamente para Benedita, tentando adivinhar o que estaria detrás daquela fisionomia severa. E foi com um tom de voz neutro e sem animação que disse:
- Bom dia, Benedita!
A criada sorriu com frieza, descerrando os lábios finos e secos, e respondeu:
- Bom dia, senhor António Ribeiro!...
António encolheu os ombros, indiferente, e, em meia dúzia de passos, venceu os últimos degraus. Encaminhou-se para a sala de jantar, donde vinha o cheiro apetitoso e fragrante do chocolate que Maria Leonor deitava nas chávenas.
A cunhada, quando o viu entrar, suspendeu o que fazia e foi ao seu encontro.
Apertaram-se as mãos, enquanto António a fitava, interessado. Maria Leonor tinha posto um vestido preto, a que aplicara uma gola cinzenta, bordada, que lhe ondulava em volta do pescoço e sob os cabelos loiros penteados ao meio, em bandós brilhantes e cuidados.
António reprimiu no último momento a palavra apreciativa que tal aspecto lhe provocara e sentou-se à mesa, no mesmo lugar da véspera. Enquanto servia o chocolate, Maria Leonor indagou do cunhado como passara a noite. Ele respondeu:
- Optimamente. De um sono apenas. E acordei ao som da mais alegre sinfonia que nos últimos tempos tenho ouvido.
Os galos da tua capoeira cantaram esta manhã com uma afinação e um entusiasmo maravilhosos. Quem será o maestro?
- Não têm maestro, com certeza. Afinam e desarmam por acaso. E ou entram todos a um tempo como numa marcha militar, ou então alternam as vozes e os timbres, como numa fuga!...
Diziam estas coisas fúteis, sorvendo o chocolate em pequenos goles, quando entraram Benedita e as crianças, estas ainda com os olhos e os cabelos molhados pelo banho ligeiro.
Enquanto elas rodeavam o tio, folgazãs pela lembrança da véspera, Benedita passeava o olhar da ama para António Ribeiro, um olhar inquisitorial, perfurante como uma verruma, um olhar que no seu semblante agressivo e pálido tinha cintilações de suspeita. Tornou a fitar a patroa, que voltava para ela a face calma e indiferente e, no espaço que as separava, os seus olhares cruzaram-se como gládios que se chocam e recuam, temerosos do golpe final.
Havia algumas semanas que ambas se surpreendiam numa hostilidade mútua, recalcada e surda, surgindo e desaparecendo rapidamente em qualquer momento e lugar. Tinham acabado, quase sem o perceber, com a familiaridade íntima que as prendia, antes, em longas conversas descansadas e fáceis. Evitavam-se.
Quando acabaram a refeição, António segredou qualquer coisa ao ouvido de Maria Leonor. Benedita curvou-se para a frente, mas logo se endireitou, calma e imperturbável, ao ouvir a ama responder:
- Um cavalo? Pois, decerto, ainda os temos. Não tão bons, nem tão bem ensinados como dantes... - deteve-se um pouco pálida e confusa, mas logo continuou: - Manda-se aparelhar um!...
Elevou a voz para dizer:
- Benedita, fazes favor dás ordem para que mandem aparelhar um cavalo para o senhor António Ribeiro...
- Pois sim, minha senhora...
Veio até à porta e chamou:
- Teresa! Ó Teresa!...
Quando a rapariga veio, disse:
- Diz ao João para aparelhar um cavalo. É para o senhor António Ribeiro!...
Sabia que desagradava à patroa com aquela ordem. Notara já que Maria Leonor «torcera o nariz» ao namoro da criada e, pelo prazer de a contrariar, fazia tudo para aproximar Teresa do namorado. Apesar do seu puritanismo, iria, se tal fosse preciso, ao ponto de os atirar para os braços um do outro, só para irritar a ama.
António levantou-se ao ouvir o tropear do cavalo na valeta debaixo da janela e disse:
- Bem, vou começar as minhas férias! Uma galopada e duas visitas: ao doutor Viegas e ao padre Cristiano. Até logo!
Saiu, despedindo-se dos sobrinhos, que se lhe agarravam, decepcionados, vendo os projectos de brincadeira desfeitos por aquele passeio, totalmente fora das previsões. Maria Leonor foi até à varanda. Em baixo, o criado segurava o cavalo pela rédea, enquanto esperava. Era um rapaz forte, moreno, com uns ombros largos e ágeis. Havia nos seus movimentos uma harmonia rítmica, segura e profunda. E a mão que afagava a crina do animal possuía a inocência, cheia de beleza e serenidade, das coisas puras.
Atrás do tio, saíram as crianças para a alameda. Quando António Ribeiro, num salto leve e decidido, cavalgou o animal, apanhando depois os estribos, bateram palmas, já reconciliados com o logro que para elas era o passeio.
António fez caracolar o cavalo numa saudação e partiu a trote, pela alameda cheia de sol. Ao chegar ao portão voltou-se e, de pé nos estribos, acenou demoradamente um adeus.
Maria Leonor, da janela, acenou também com o seu lenço branco, que uma estreita barra negra entristecia. Voltou para dentro, um pouco estonteada pela luz do Sol, que mal a deixava ver a sala e os móveis. No deslumbramento, quase esbarrou com Benedita, que a fitava a poucos passos, enigmática, com os olhos brilhantes. E até à entrada das crianças, ficaram-se a olhar uma para a outra, olhos mergulhados nos olhos, o rosto crispado, retendo as perguntas inevitáveis.
Naquele momento, feliz como um pássaro livre, António trotava ao longo do rio, obrigando o cavalo a mergulhar as patas na água baixa, deliciado por sentir os salpicos levantados molharem-lhe o rosto. Ia radiante, apertando os flancos do animal entre os joelhos, formando com a montada um corpo único, com o mesmo sangue, os mesmos músculos, a mesma vontade de correr e saltar.
Longe da lembrança lhe iam ficando as longas horas gastas no seu consultório do Porto, a atender as doenças, a apalpar as carnes em véspera de putrefacção, a sofrer o hálito dos febricitantes e a suportar o pus dos abcessos.
Agora, por aquela margem do rio, com os longos ramos verdes dos salgueiros a
roçar-lhe a cara, e o ar puro e lavado do campo a refrescar-lhe os pulmões, revivia, numa ânsia insofrida de gozar. E todos os seus sonhos de rapaz, todas as suas esperanças na vida lhe acordavam no espírito numa revoada súbita, como aves despertadas, ao sentir a docilidade do cavalo sob a pressão dos joelhos e o mando forte e suave das rédeas.
Num lugar onde o rio estreitava subitamente, atravessou-o para a outra margem com a água roçando a barriga do cavalo. No outro lado, deteve-se por instantes, orientando-se.
Entre duas filas brancas de marmeleiros esgalhados, apertava-se um caminho. O chão era uma enxerga de poeira. Hesitou. Pretendia visitar o doutor Viegas, é verdade, mas o Parreiral ficava lá em baixo, no fim daquele caminho abrasado e branco, que se contorcionava como uma serpente cuja respiração era o pó que se levantava em nuvens. Não era agradável sufocar-se por sua vontade debaixo do Sol que ia subindo, escorrendo chamas.
Mas, de repente, nos seus trinta e cinco anos gastos e desiludidos, fartos de miséria e de dor, brotou como uma flor de maravilha o fogo da mocidade, o impetuoso desejo de aventura, ainda que ela fosse apenas o galopar à rédea solta por uma estrada quente e empoeirada, numa radiosa e criadora manhã de sol.
E foi num espasmo quase doloroso de alegria, os olhos humedecidos de gratidão a si próprio por se sentir ainda capaz daqueles entusiasmos, que encabritou o cavalo e o arremessou pela estrada, desaparecendo entre o pó, num galope frenético, curvado sobre o pescoço do animal, a rir, a rir como um perdido.
Quando se apeou à porta da casa do médico, a boca doía-lhe do riso. Levou o cavalo pela rédea e subiu o pequeno arruamento, ladeado de formosas parreiras, que ia terminar nos degraus que conduziam ao interior da casa. No fim da latada, do lado esquerdo, brotava, de um buraco na parede, Um fio de água vindo do poço, donde se ouvia o som vagaroso e isócrono da nora.
E sob o calor do Sol e da galopada António bebeu longamente, os lábios sequiosos apoiados na bica, num chuchurrear fresco e demorado.
Depois, ergueu-se e olhou em volta, escutando. A não ser o ruído constante da nora invisível, nada mais se ouvia. Ia chamar, quando de detrás do cunhal do prédio surgiu um homem em mangas de camisa, com uma enxada ao ombro.
Olhou desconfiado para António e perguntou, enquanto o esquadrinhava desde a cabeça às botas empoeiradas:
- O que deseja?
António puxou o cavalo até à taça de pedra para onde a bica se entornava e respondeu:
- Procuro o doutor Viegas...
O homem tornou:
- É doente?
A inutilidade da pergunta fez sorrir António.
- Não, não sou doente, sou um amigo do senhor doutor. Queria vê-lo. Ele não está?
O homem hesitou, como pensando se deveria levar mais longe a curiosidade, e acabou por responder:
- Não está, não senhor. Saiu logo pela manhã e deve estar para Miranda...
António, aborrecido, atirou as rédeas por cima da cabeça do cavalo e, enfiando o pé no estribo, escarranchou-se-lhe com lassidão no lombo. Mas o homem parecia não ficar satisfeito e voltou à carga:
- Mas quem é o senhor?
- Sou cunhado da dona Maria Leonor Ribeiro, da Quinta Seca. Conhece?
O homem desbarretou-se.
- Sim, senhor! Desculpe vossa Senhoria o perguntar, mas sou novo na terra e não conhecia Vossa Senhoria. Pois, o senhor doutor deve estar para Miranda...
António agradeceu e, voltando o cavalo, desceu entre as parreiras até à estrada. A sua animação quase infantil tinha desaparecido e no lugar dela ficara uma preocupação madura, ao olhar, por cima dos últimos ramos dos marmeleiros, os campos secos, enquanto o cavalo o conduzia num passo lento e mole.
Nem cavalo nem cavaleiro pareciam os mesmos de há pouco: ambos receavam agora o pó, o cavalo espirrando e fungando, sacudido; o cavaleiro protegendo o nariz e a boca com o lenço.
Depois de ter atravessado de novo o rio, António incitou o cavalo a um trote curto para a aldeia. Ao chegar às primeiras casas tomou por um atalho que cortava entre os olivais. Queria evitar encontros, agora. Não se sentia disposto a conversar. Pelo atalho que percorria ia sair justamente diante da casa do padre Cristiano, já do outro lado da povoação, no caminho para o cemitério. Àquela hora era possível não encontrar ninguém até lá. Seguiu por detrás dos quintais que davam para o carreiro, por entre o ladrar dos cães, que pulavam, furiosos, atirando-se contra as sebes.
Desembocou por fim no pequeno terreiro da casa do padre. Curioso do ruído das patas do cavalo, Cristiano chegou à janela. E vendo António, no pátio, desmontando à pressa, veio recebê-lo, à porta, de braços abertos, trémulo na sua senilidade:
- Ora viva, o grande viajante! Um abraço, meu filho!...
- Quantos queira, padre Cristiano!...
Ficaram abraçados longamente. Mas depressa o padre se recobrou da comoção. E fez entrar António para uma sala cheia de frescura como um oásis, onde o chão barrado de fresco era uma mancha viva sobressaindo na alvura das paredes caiadas. Por cima de uma pequena mesa um grande crucifixo de pau-santo e marfim abria os braços angustiadamente. De fora vinha o zumbido grave do dia que esquentava.
Naquela frescura, olhando o velho padre, António sentiu o espírito repousar de novo, acalmar-se da excitação da galopada para casa de Viegas. Conversaram. As palavras do sacerdote eram impregnadas da suavidade que os rodeava.
Entre os móveis velhos e o aroma fresco da sala as suas frases ficavam a pairar como ressonâncias puras de orações.
E foi só muito tempo depois que António saiu. Cá fora, olhou para o relógio. Eram onze horas já mas, antes de voltar para a Quinta, tinha ainda tempo de subir, num galope, a encosta para o cemitério.
Quando lá chegou apeou-se e prendeu o cavalo aos ferros do portão. Sacudiu o pó do fato e entrou. O cemitério estava deserto e silencioso. Foi pela álea central, ensaibrada de novo, fazendo ranger a areia sob as botas de montar.
Ao fim, junto ao muro, era a cova onde repousava o corpo de Manuel Ribeiro. Aos pés da sepultura, António parou. Em frente, por cima do sítio onde devia estar a cabeça do irmão, uma pequena caixa de lata abrigava, por detrás do vidro, um retrato já descolorido. Em baixo, na terra gretada, duas jarrinhas de porcelana, onde secavam, a míngua de água, umas poucas flores. O coval tinha um certo ar de abandono.
ainda sob a influência da visita ao padre e do ambiente da pequena casa ao fundo da colina, António curvou a cabeça e procurou na memória fragmentos das suas orações infantis, balbuciando uma prece pelo descanso da alma do irmão.
Quando acabou, caiu de joelhos no chão duro e seco e chorou, numa infinita melancolia. Depois, levantou-se e foi, rente ao muro, onde se abrigava ainda alguma humidade, cortar as pequenas flores silvestres que ali tinham ido nascer. Juncou com elas a sepultura do irmão, deixando-a coberta de um manto colorido, palpitante, vivo.
Saiu, cabisbaixo. Desprendeu do portão as rédeas do cavalo e desceu a colina, a pé, levando o animal pela arreata, silenciosamente, sob a grande luz impiedosa que caía do céu sobre a sua cabeça descoberta e sobre as flores que deixara no cemitério.
Depois do almoço, as crianças subiram aos seus quartos para descansar durante a hora da sesta. Benedita levantou o serviço, auxiliada por Teresa, e com ela desapareceu na cozinha. Na sala apenas ficaram Maria Leonor e o cunhado.
Sentados ambos perto de uma das janelas semicerradas, repousavam na penumbra suave, onde a luz forte do exterior se amortecia depois de filtrada pelas cortinas corridas. Havia em toda a casa um silêncio grave e expectante, maior na modorra do dia, que parecia crestado e seco debaixo do calor implacável que caía como chuva ardente e invisível do céu azul. O som asmático do relógio ia matando os segundos um a um, sem pressas escusadas, como quem sabe que tem a eternidade à sua espera.
Na atmosfera íntima da sala aconchegada, sentados nas velhas poltronas de vime, em cujos braços havia o tom quente das mãos que neles se tinham apoiado sucessivamente, António e Maria Leonor conversavam. Ele começara por contar o seu passeio matutino, desde a partida até à visita a casa do padre. Um escrúpulo indefinível o impedira de relatar a ascensão ao cemitério, as suas orações e as suas lágrimas, e a volta, a pé, triste, trazendo o cavalo pela arreata.
Maria Leonor, embora convencida de que ele visitara a sepultura do irmão, também nada lhe perguntou. E ficaram silenciosos e embaraçados, evitando olhar-se, sabendo cada qual o que o outro pensava. A recordação de Manuel Ribeiro assombrou, por momentos, a casa. No silêncio, o relógio continuou, incansavelmente, o caminho para a consumação dos séculos.
Foi António quem quebrou o enleio. Levantou-se e foi até uma das janelas, que abriu. Entrou uma baforada de ar quente, que enfunou as cortinas brancas e foi correndo pela casa até ao tecto. Na quinta ladraram cães.
António deu costas à janela e voltou para dentro, acendendo um cigarro. Rodeou a mesa, aspirando o perfume do tabaco, e parou, pensativo, diante de Maria Leonor, que cruzara as mãos no regaço no seu antigo jeito de convalescente. Trazia o mesmo vestido que usara de manhã. A cor negra diluía-se na penumbra e apenas as mãos e o rosto cintilavam como cristais preciosos. Um feixe de Sol veio derramar-se-lhe sobre a cabeça, como a chuva de ouro em que Júpiter se transformara para seduzir Dánae.
A comparação mitológica fê-lo sorrir. Mas logo reconsiderou e o sorriso
desapareceu-lhe dos lábios. Ficou a olhar para Maria Leonor, um pouco perturbado pela sua imobilidade. Fez um esforço para quebrar o silêncio e perguntou:
- Então, Maria Leonor, e a situação económica da Quinta?
Imediatamente se arrependeu da pergunta, sem saber porquê. Mas Maria Leonor, movendo-se como se tivesse despertado naquele momento, entrou de falar das colheitas e das vindimas, numa voz monótona e insípida, como se recitasse um trecho aborrecido de selecta escolar. Quando acabou, chegava o cunhado ao fim do seu cigarro. Ficaram de novo silenciosos. Apesar da aridez do assunto, Maria Leonor animara-se. O seio arfava-lhe lentamente, profundamente, e no pescoço uma pequenina veia latejava.
Desta vez, o silêncio foi interrompido pelo bater do relógio. E, logo a seguir, Benedita apareceu à porta, tão devagar que não deram por ela senão quando disse, num murmúrio grave, onde havia ligeiras dissonâncias:
- Minha senhora, está lá fora o doutor Viegas. Deseja que o mande entrar?
Maria Leonor abriu os olhos, espantada. A sua voz sabia a irritação quando respondeu:
- Evidentemente. Por que não havia o doutor Viegas de entrar? Não é costume?
Benedita pôs os olhos no chão e murmurou:
- Julgava... - e deteve-se.
- Julgavas o quê? - quis saber Maria Leonor.
Mas logo silenciou, perturbada. Benedita saiu e voltou daí a pouco com o médico, a quem deu passagem para a sala.
Depois, cerrando a porta, desapareceu.
Viegas entrou, soprando, acalorado, expansivo. E após o abraço apertado que o uniu a António, voltou-se para Maria Leonor, interrogando:
- Então, menina que espécies de empenhos são precisos para chegar à tua presença? Quererás tu que eu solicite audiência para te falar?
Maria Leonor surpreendeu-se:
- Mas porquê?
- Porquê? Ora essa! O ar misterioso da Benedita e o tempo que esperei pela resposta não me fizeram pensar noutra coisa. Que, aliás, é a primeira vez que eu preciso que me anunciem aqui... Passa então a ser necessária a apresentação do bilhete-de-visita?..
- Quanto tempo esperou?
- Quanto tempo esperei? Ora deixa ver...
Tirou o relógio da algibeira do colete e precisou:
- Cinco minutos.
Maria Leonor encolheu os ombros, irritada.
- São coisas daquela Benedita. Anda na lua...
O médico sorriu:
- Ah! Vocês estão zangadas? Patrões e criados maldispostos é o diabo, não tenhas dúvidas...
Voltou-se para António e foi com ele a uma das janelas, a agradecer a atenção que tivera em visitá-lo, logo de manhã, por aquela estrada tão cheia de poeira, e então com a pouca sorte de não o encontrar. António respondia, sorrindo, que lhe custara mais o regresso que a ida, enquanto o médico, depois de ter feito um aceno interrogativo a Maria Leonor, atufava o cachimbo de tabaco.
Demoraram-se à janela, Viegas explicando o estado em que andavam os camponeses, com as malditas sezões daqueles malditos arrozais.
Interrompeu-se, de repente, e voltou-se para Maria Leonor:
- Menina, os mais elementares deveres da hospitalidade mandam que ao visitante cansado, que chega, depois de um estirado passeio debaixo de um Sol como este, capaz de frigir ovos numa pedra, seja dado, pelo menos, um refresco.
Reclamo, pois, o refresco!
Maria Leonor sacudiu-se do entorpecimento que a amarrara à cadeira e foi até junto dos dois homens:
- Tem razão, doutor. Desculpe-me. Terá o seu refresco.
Virou-se para o cunhado e perguntou:
- Tu também bebes, não é verdade?
- Pois sim, se fazes favor...
- Esperem, então, um pouco, sim?! Não tardo...
Saiu da sala, elegante e ágil, no seu vestido preto, que a fazia parecer mais esbelta. António seguiu-a com o olhar até ela desaparecer. Quando voltou, de novo, o rosto atento para Viegas, viu-o mordiscar a ponta do cachimbo, um pouco irónico no olhar. Rufou, enervado, com os dedos na vidraça.
- Então, doutor, continue. Como entende que cessava definitivamente o sezonismo?
Viegas deu uma baforada e respondeu:
- Ah, sim, as sezões!... Acabar com os arrozais, secar todas as alvercas que por aí há e alimentar esta gente a quinino. Mas como nada disto se pode fazer, vamos andando até ao final do Verão. Depois, curam-se por si... É verdade, tu vais ajudar-me enquanto aqui estás, não é assim? Hem?!
- Não sei se serei de grande ajuda. De resto, o doutor nunca teve muita confiança nas minhas qualidades de médico...
Viegas atalhou, brutal:
- Exactamente. Mas sezões qualquer pessoa as trata...
Corando, António preparava-se para responder, mas suspendeu-se.
Maria Leonor entrava nesse momento, trazendo uma bandeja com grandes copos, onde boiavam amarelas cascas de limão.
Viegas deixou a janela e precipitou-se. Agarrou um dos copos que Maria Leonor lhe oferecia e, afastando os pêlos do bigode, sorveu um regalado gole. António veio também, lentamente, ainda aborrecido. Ao olhar interrogativo da cunhada, respondeu com um encolher de ombros impaciente. E aquele olhar e aquele gesto isolaram-nos, por segundos, do médico, que se sentara, bebendo o refresco.
Ficaram os três em silêncio enquanto bebiam. Viegas fez dançar o resto da limonada no fundo do copo para dissolver o açúcar e, atirando a cabeça para trás, despejou-a na garganta. Deu um ah! consolado, estendendo sobre a esteira do chão as pernas magras, apoiando-se nos tacões das botas empoeiradas. Limpou a boca a um grande lenço de quadrados azuis que tirara da algibeira e cruzou os braços, contente, olhando à sua volta.
Um após outro, Maria Leonor e António tinham pousado na bandeja os copos vazios. Na sala, entre o cheiro do tabaco, ficou a pairar um leve perfume de limão.
Maria Leonor chamou a criada e mandou a bandeja.
Quando ficaram sós, olharam-se silenciosos. António remoía, indisposto, a ironia do médico e Maria Leonor olhava, pela janela aberta, os campos encharcados de luz, que tremiam no horizonte, no lugar onde se confundiam com o céu, num esbatimento de azul e verde. Viegas sorria, soprando fumaças do seu cachimbo.
António levantou-se e deu uns passos na sala. O ranger das botas soou como um tiro na quietude do ambiente e pareceu despertar Maria Leonor da distracção. Ia falar, quando Viegas, sacando a carteira da algibeira interior do casaco, se antecipou:
- Quando três pessoas não encontram que dizer entre si, é preciso fazer um esforço, e esse esforço, quase sempre, acaba por ser pior que o próprio silêncio. Veremos o que desta vez acontece...
Abriu um sobrescrito e tirou uma carta que desdobrou sobre as pernas, cautelosamente. António veio sentar-se de novo e Maria Leonor inclinou-se para o médico, apoiando os cotovelos nos joelhos, interessada.
Viegas continuou:
- Ora bem! Não sei se tu, António, conheces os factos.
Se não conheces, digo-te, em poucas palavras, que a Maria Leonor me pediu que arranjasse uma casa onde o Dionísio pudesse residir, comer, estudar, viver, enfim, enquanto estiver em Lisboa, no liceu. É disso que se vai tratar agora.
Voltou-se para Maria Leonor e acrescentou:
- Recebi, hoje de manhã, uma carta do meu irmão Carlos!
- Ah!...
Uma leve sombra perpassou no rosto de Maria Leonor.
Era o começo da separação que chegava.
Viegas limpou a garganta do pigarro do tabaco e disse:
- Bom, eu vou ler a carta! E tu apreciarás e dirás o que te parece. Lá vai!
E começou a ler num tom monótono e áspero, interrompendo-se uma vez por outra para puxar uma fumaça de cachimbo:
«Pedro: Recebi a tua carta há cerca de oito dias e só agora me é possível responder-te porque tenho andado atrapalhado com uns negócios que, embora dessem esperanças ao princípio, se complicaram depois, a ponto de me convencer que ia perder um bom par de contos de réis. Tudo se compôs, por fim. Esta que foi, outra que não venha.
«Depois de ler o que me escreveste, passei a carta ao João, sem dizer palavra. Quis que fosse ele a dar a resposta, visto que neste assunto é ele, segundo me parece, o interessado principal, abstraindo, evidentemente, desse garoto por quem te interessas e da mãe. O João leu, remirou a carta, tomou a lê-la e devolveu-ma em silêncio. Enfiou as mãos nas algibeiras, num gesto muito seu, que quer dizer indecisão e perplexidade perante um acontecimento novo, de consequências novas...
Vendo que não dizia nada, perguntei o que lhe parecia. Encolheu os ombros e resmoneou qualquer coisa que não percebi. Insisti e acabou por dizer que não gostava de dormir acompanhado. Tranquilizei-o quando lhe disse que tal não aconteceria, tanto mais que não acreditava que o teu Dionísio gostasse também de dormir nessas condições. Depois disto mostrou-se satisfeito.
«Parece-me, portanto, que tudo se arranja, visto que o João não mostrou má cara. De resto, nos dias seguintes, fez-me várias perguntas sobre a maneira de receber hóspedes em casa, em que grau iriam os estudos do seu futuro companheiro, se seria mais alto que ele, etc. Podes dizer a essa senhora tua amiga, Dona Maria Leonor Ribeiro, segundo me informaste, que recebo o seu filho em minha casa como se meu fosse e que nada aceitarei dela em paga, se o rapaz puder ser, para o João, o irmão que eu lhe não dei. Peço-te que apresentes a essa senhora os meus mais respeitosos cumprimentos e que beijes por mim o Dionísio, futuro companheiro do João. Quando vens a Lisboa? Abraça-te o Carlos.»
Viegas tornou a dobrar a carta, respirou fundo, e reclinando-se no espaldar da cadeira, rematou:
- E aqui está! É a estas pessoas que tu vais entregar o Dionísio durante três quartas partes do ano. Não fala da minha cunhada, que é, positivamente, aquilo a que se pode chamar uma excelente alma. Em casa, além dos três, não há mais ninguém, a não ser as criadas, claro...
Interrompeu-se para riscar um fósforo e, mantendo-o aceso sobre o fomilho do cachimbo, perguntou:
- Então, que te parece?
Maria Leonor levantou-se, foi até à janela, onde se demorou uns momentos, silênciosa, olhando a cúpula azul-cinzenta do céu abrasado. Depois, voltou, e parando atrás de Viegas, pôs-lhe as mãos sobre os ombros grossos, respondendo:
- Parece-me bem. Achei a princípio um bocadinho de liberdade em demasia na maneira como se jogava a sorte do Dionísio. O final da carta comoveu-me e rendi-me. Só tenho pena de não ter educado o Dionísio de modo que me permitisse, também, passar-lhe a carta para as mãos e ouvir a sua opinião - suspirou e concluiu, com tristeza: - Nem tudo o que se faz por bem é bem feito...
Viegas riu, alegre, e respondeu, enquanto se levantava:
- Tal como as pegas de Sintra, não é verdade?
- Exactamente. Tal qual como as pegas de Sintra...
António, que se mantivera em silêncio durante a leitura da carta e no decorrer das palavras trocadas entre a cunhada e o médico, teve um ligeiro gesto de quem se espreguiça e perguntou, bocejando:
- Temos, então, o Dionísio em Lisboa, hem?
Viegas respondeu, enquanto sacudia o cachimbo em cima de um cinzeiro:
- Mais propriamente, teremos. Há qualquer coisa a opor?
- Não, que ideia!, tanto menos quanto a Maria Leonor já decidiu. Somente...
Maria Leonor voltou-se para ele:
- Somente...
- Somente... Peço-te que não interpretes mal as minhas palavras, somente, parecia-me natural teres-te lembrado de que vivo no Porto e de que no Porto também há liceus...
Maria Leonor ruborizou-se e respondeu rapidamente:
- Não me lembrei, confesso, mas penso não ter errado procedendo como procedi. A tua qualidade de pessoa de família não me parece suficiente para suprir as que te devem faltar, tratando-se da educação de uma criança!...
António cruzou as mãos atrás das costas e, curvando-se numa reverência profunda e trocista, redarguiu:
- Parece-te? Sois ambos muito amáveis, o doutor Viegas e tu... Com licença.
Saiu da sala e, durante alguns segundos, ouviram-se-lhe os passos pela escada acima. Bateu uma porta. Maria Leonor ia dar um passo para fora, também, mas deteve-se e ficou na sala, nervosa, batendo o pé, evitando o olhar do médico, que a fitava, calmo e sorridente, e que acabou por dizer:
- Que malcriado está o menino?! Que tem ele, Maria Leonor?
- Sei lá! Estava bem-disposto, como viu. De repente, saiu-se com aquilo. Só de uma criança...
Viegas riu silenciosamente, agitando os ombros. Deu um jeito no casaco e, depois de ter deitado um olhar ao relógio, foi à janela espreitar o Sol.
- Ainda vai alto e isto deve estar um calor de morrer.
Mas, francamente, prefiro os três quilómetros até casa debaixo desta torreira, a ficar o resto da tarde e aturar as birras alheias...
Bateu com as botas de encontro à grade da varanda para lhes sacudir o pó e voltou para dentro. Maria Leonor estava sentada num dos braços do canapé, pensativa, olhando os desenhos esmaecidos da esteira, onde alastravam grandes rosas de mistura com verdes galhos floridos de pereira.
Viegas parou junto dela e, de súbito, sem aviso, levou dois dedos à nuca de Maria Leonor, apertando-a de leve. Ela soltou um gritinho e ficou-se a olhar, estupefacta, para o médico, que sorria, com um brilho irónico e malicioso no olhar.
- Que... que foi isso, doutor? - e tremia.
O sorriso do médico desapareceu.
- Nada, menina! Desculpa! Não sei que tolice foi esta minha... Desculpas, sim?.. - e mudando de tom: - Bem, então fica combinado. Posso dizer ao Carlos que aceitas, não?
Maria Leonor olhava para ele, intrigada, perguntando que estranho capricho seria aquele de lhe apertar a nuca, tão bruscamente que a assustara. Respondeu:
- Pode, sim. Pode dizer que aceito e agradeço, mas que teremos de falar mais a preceito acerca do pagamento da pensão. É demasiado que...
Viegas interrompeu, aborrecido:
- Não é demasiado nada, bem vês... O meu irmão não procura a satisfação material que lhe possa dar o ter um pensionista. Não ouviste ler a carta?
- Ouvi, sim, mas...
- Então... que mais é preciso dizer?
Agarrou o chapéu e concluiu:
- Estamos entendidos, não é assim? Até amanhã!
Atravessou a sala e saiu, com os ombros caídos e as costas arqueadas, vergando.
Ouviu-se um ruído de vozes na casa de entrada e logo depois o bater da porta que dava para a alameda. Quando o ranger da areia se sumiu, Maria Leonor deixou-se cair devagar numa cadeira, inclinou-se sobre a mesa, pousou a cabeça nas mãos e, sem saber o motivo, começou a chorar baixinho, sufocando os soluços, numa irreprimível angústia, que a enchia toda.
Um arrastar de pés junto da porta fê-la erguer-se rapidamente, com os olhos vermelhos e húmidos e o coração palpitante. Era Benedita que entrava. Enquanto a criada se dirigia à janela para a fechar, Maria Leonor, mantendo-se sempre de costas voltadas, saiu da sala.
Cá fora, limpou os olhos e, depois de uma curta hesitação, subiu as escadas para o segundo andar. Lá em cima, havia um silêncio mortal. Dirigiu-se ao quarto e sentou-se diante do toucador. Considerou demoradamente a fisionomia, olhando o espelho. Alisou com um pente os cabelos, passou nas faces levemente congestionadas a borla do pó-de-arroz e vazou uma gota de perfume nas palmas das mãos. Depois, saiu do quarto e caminhou para o escritório.
Ao entrar, quedou-se um momento tomada de súbito pavor, gelada, sentindo-se tremer dos pés à cabeça. No cadeirão negro, inclinado sobre um livro aberto que repousava em cima da secretária, estava sentado António Ribeiro.
Para Maria Leonor, aquela presença de homem, ali, na meia luz do aposento, resultava estranha, sobrenatural. E ficou imóvel e silênciosa, encostada à ombreira da porta, olhando o cunhado, que, absorvido na leitura, não a sentira. Tremia.
Um fogo que parecia queimá-la subia-lhe pelo corpo até à garganta, aos olhos, palpitando-lhe nas têmporas, riscando-lhe no cérebro traços luminosos, que fulguravam e se extinguiam numa sarabanda orgíaca e entontecedora.
De súbito, ao voltar uma página, António viu a cunhada.
Recuou a cadeira e levantou-se. Estava pálido e nervoso.
Contornou a secretária e caminhou para Maria Leonor, que se apertava contra a parede, como se quisesse fugir-lhe. Parados diante um do outro, a centímetros de distância, sentiam o sibilar das respirações. A garganta de Maria Leonor contraía-se espasmodicamente. Qualquer coisa dentro dela rolava e crescia, uma vaga imensa, que lhe enchia o crânio, zumbindo-lhe nos ouvidos num marulhar constante. No silêncio, morno e acariciador, do escritório, António murmurou, baixinho, quase inaudívelmente:
- Maria Leonor... desculpas-me o que disse lá em baixo? Eu estava doido, com certeza... Desculpas?
A sua voz era um ciciar dolorido, um arrulhar cioso e perturbador. E os olhos chamejavam-lhe.
Maria Leonor desfalecia num pavor delicioso, os olhos esgazeados, húmidos como violetas esmagadas, e respondeu, balbuciante:
- Sim... desculpo...
Sentia que sob os pés se cavava um buraco imenso, profundo, onde se iria despenhar numa queda que duraria a eternidade, rolando entre fragas agudas que lhe despedaçariam a alma.
Fechou os olhos, cambaleando. Quando os abriu um pouco erguendo as pálpebras pesadas de volúpia, viu avançar para si, por entre o nevoeiro das pestanas, o rosto do cunhado. Entreabriu os lábios num gemido, que foi cortado pelo choque alucinado das duas bocas, esmagada a carne numa dor angustiosa e consoladora.
Os joelhos vergaram, muito lentamente, como se as forças que a sustentavam se fossem exaurindo devagar. Depois, numa última contorção, caiu no tapete, como um corpo morto.
Debruçado sobre ela, António quase a esmagava sob o peso do seu corpo. E, com a boca presa nos lábios dela, Sugava-lhe a respiração, como um vampiro a fartar-se de sangue. Maria Leonor, com as espáduas assentes no chão, a boca sangrando, sentia-se enlouquecer, e quando as mãos do cunhado a percorreram toda, numa carícia lenta e insidiosa, um espasmo violento a sacudiu epilepticamente. Era o fim.
As mãos, que arrepanhavam o pêlo rijo do tapete, subiram, rápidas, até aos ombros de António, e aí se agarraram com força, enquanto duas grossas lágrimas lhe deslizavam devagar pelo rosto. A cabeça rolou-lhe entontecida e, em todo o seu corpo, começou a lassidão do abandono e da renúncia.
Naquele momento soaram passos na escada. António levantou-se de um salto e foi até à cadeira, Aí se deixou cair com a cabeça entre as mãos, olhando o livro aberto na sua frente. Maria Leonor, num esforço penoso, gemendo, ergueu-se, apoiando-se à alta estante de mogno, onde os livros perfilados assistiam, mudos e impassíveis.
Os passos aproximavam-se. António procurava dominar a agitação que o invadia e lhe punha tremores nos ombros.
Forçava-se a olhar o livro, a tornar-se alheio ao que o rodeava, enquanto Maria Leonor, encostada à estante, ia percorrendo com a mão inconsciente as lombadas dos livros, como se procurasse um volume. Quando Benedita entrou, ambos estavam silenciosos e quietos. A criada parou à entrada, surpreendida.
António ergueu a cabeça, mas logo a baixou sobre o livro. Maria Leonor, que tirara, por fim, um volume, folheava-o agora, trémula e ansiosa. E quando Benedita deu alguns passos no aposento, os dois apavoraram-se. No silêncio da casa aqueles passos soavam como as marteladas finais num caixão fúnebre. Benedita parou, rente a Maria Leonor, que lhe sentia os olhos e a respiração sibilada a queimarem-lhe a face como brasas. Numa suprema vontade de reagir, fechou o livro de estalo e fitou a criada. Nos olhos dela viu o brilhar agudo de uma desconfiança prevenida. Os cantos da boca
tremeram-lhe convulsivamente, e entre as pestanas cintilaram duas lágrimas enormes que não caíam, que se queimavam lentamente no fogo das pálpebras.
Detrás da secretária, António levantou-se e foi caminhando até à porta, evitando olhar as duas mulheres. E saiu. No corredor alcatifado os passos morreram, extinguindo-se como uma melodia que se dissipa no ar.
Ficou só o silêncio. No aposento, passou a sombra fugidia de umas asas, que voaram a roçar a janela. E as duas mulheres continuaram a fitar-se, até que Maria Leonor sentiu a face abrasada. Desviou os olhos para o tapete, onde quase morrera de gozo. Benedita seguiu-lhe o olhar e pareceu compreender: tomou uma inspiração funda e cuspiu:
- Porca!
Foi uma chicotada. Maria Leonor levantou as duas mãos e esbofeteou-a. E quando Benedita, aturdida, recuou, bateu-lhe ainda, cega de raiva, consumindo naquele esforço as últimas energias que lhe restavam. Benedita, com as mãos diante do rosto,
protegia-se, enquanto recuava para a porta.
Quando lá chegou, já Maria Leonor a deixara, especada no meio do aposento, hirta, os olhos dilatados, sentindo como que uma mão de ferro apertar-lhe a garganta. A criada olhava-a, espantada. Um sentimento de vaga compaixão lhe perpassou na alma, mas logo a imensidade absurda da traição a invadiu e, num arranco de ódio e desprezo, atirou:
- Até na casa onde o seu marido viveu...
Saiu a correr. Maria Leonor ficou a olhar estupidamente o fundo negro do corredor onde a criada se sumira. Depois, deixou-se cair no chão, quase desmaiada. Corriam-lhe no cérebro mil pensamentos, que se entrechocavam como planetas de um sistema donde desaparecesse a ordem e a harmonia. Tão depressa revia o funeral do marido, sob aquela grande chuva de Março, pelos caminhos enlameados do campo, como lhe parecia sentir nos lábios, ainda magoados, a pressão furiosa da boca de António. Por entre as nebulosidades crescentes da inconsciência, ouviu lá fora um gargalhar de crianças. Depois desmaiou.
Quando, daí a longo tempo, acordou do desmaio, olhou em roda, espavorida. Ergueu-se. Deu uns passos, hesitantes, a cambalear. Apoiou-se a uma das extremidades da secretária e, passando a mão livre pela testa, tentou concentrar os pensamentos. E lembrou-se! Então, uma vergonha infinda a inundou. Dentro da sua alma ia um desmoronar caótico: era como se todas as razões morais em que pode ser sustentada uma vida humana desabassem, deixando apenas de si a poeira dos escombros, o desalento das ruínas.
Encostada à secretária, os braços caídos ao lado do corpo, deixou que as lágrimas lhe corressem livremente pelo rosto. Mas eram lágrimas que não aliviavam. Cada uma que lhe caía no corpete do vestido parecia perfurá-la toda a fogo lento. Moveu-se a custo e enxugou os olhos, tão inutilmente como se tentasse secar uma fonte bebendo-lhe um gole. As lágrimas continuavam a abrir-lhe sulcos fundos no rosto, como rios de lava nas abas de um vulcão.
Na sua angústia, sentiu um grande dó de si própria, e quando lhe surgiu no pensamento a pergunta «e agora?», abanou desalentada a cabeça, mordendo os lábios, numa tristeza imensa, numa pena impotente da sua desgraça.
Ia caminhar para a saída, mas estacou, perplexa. A porta estava fechada e em baixo, no chão, a chave caída. Compreendeu. Benedita tinha voltado e, para que ninguém a visse prostrada no soalho, fechara a porta e metera a chave pela fenda. Sorriu com amargura, ao pensar que ainda lhe devia agradecimentos por isso. Abriu a porta e foi pelo corredor, quase arrastando-se, até ao quarto. Cerrou a porta atrás de si, um pouco acalmada com o aspecto familiar do aposento.
As janelas estavam fechadas, mas tinham as cortinas abertas.
Uma claridade doirada fazia brilhar os tampos dos móveis.
Na cómoda, ao fundo, erguia-se, branca e imóvel na sua prece eterna, com os olhos de porcelana virados num êxtase mudo para o tecto, a imagem da Virgem, emblema de pureza. Os cortinados do leito caíam em pregas harmoniosas formando um dossel, debaixo do qual a colcha guardava o perfume dos lençóis. A almofada, à cabeceira, tinha uma pequena cavidade de curvas repousantes e convidativas.
Entontecida pela intensidade da luz, que entrava pela janela num feixe delgado, uma mosca voejava, fazendo cintilar as asas quando atravessava a fita de Sol que descia para o chão.
Maria Leonor puxou uma cadeira e sentou-se. Escondeu a face entre as mãos e, aconchegando-se num jeito friorento de doente, ali ficou, imóvel, num pensar confuso, sobressaltada pelos rumores da casa.
Estremeceu quando, uma vez, ouviu a voz de Dionísio, junto da porta fechada, perguntar:
- A mãezinha está lá dentro?
Outra voz, a de Benedita, respondeu:
- Está lá dentro, mas não pode vir. Está um bocadinho doente. E os meninos não façam muito barulho, ouviram?
A voz desolada do rapazinho decaiu num murmúrio de pena. Depois, a tarde foi chegando. O céu começou a escurecer e o quarto a encher-se de sombras. Por uma fresta da cortina, Maria Leonor viu no céu a primeira estrela da noite a brilhar. Levantou-se e contemplou-a por detrás das vidraças. Na abóbada, que ia enegrecendo, era a única luz que cintilava, com umas fulgurações vermelhas, como um rubi cravado no céu. Parecia que todo o azul não tinha outro fim senão o de fazer ressaltar, por contraste, a beleza da estrela. Mas todo o céu, pouco a pouco, se foi picando, aqui e além, de pontos luminosos, como se, por detrás do negrume azulado, houvesse o despontar de um novo dia, que assim lograsse iluminar a terra.
Quando a noite caiu por completo, Maria Leonor deixou a janela. Caminhou pelo quarto, às apalpadelas, e sentou-se na cama. Despiu-se e deitou-se. Era-lhe impossível dormir, mas admirava-se por se sentir tão calma e sossegada. Nos seus olhos já não havia lágrimas. O cérebro recusava-se a pensar no que se passara, e nem conseguia recriminar-se, nem achar atenuantes que a justificassem. Entre os lençóis que a iam aquecendo, lentamente, apossava-se dela uma sensação de segurança e indiferença que a isolavam da realidade, como se, sob o mesmo telhado que a abrigava, não houvesse duas pessoas a quem, àquela hora, porventura, o que se desenrolara à tarde, no escritório, provocava um desencadear de paixões tumultuosas, refreadas pela consciência do segredo que era preciso guardar. E era, justamente, o saber que o segredo seria guardado, que lhe dava aquele sentimento de tranquilidade.
O ranger da porta que se abria interrompeu o devaneio.
Encolheu-se na cama, assustada, esperando ver o rosto de Benedita emergir da claridade do candeeiro que traziam. Mas não era Benedita. Era Teresa, que entrava com o jantar.
- Então, minha senhora, está melhorzinha?
A comédia continuava! E Maria Leonor não tinha outra solução que não fosse desempenhar o papel que lhe tinham distribuído. Depois de um momento de silêncio, em que perscrutou a face compadecida da criada, respondeu:
- Estou um poucochinho melhor...
Teresa pôs o tabuleiro sobre a cama e, enquanto arranjava os pratos, disse:
- Veja lá, minha senhora, como, de um momento para o outro... Quando a Benedita contou, até fiquei passada! Estar a senhora tão bem-disposta a conversar e, de repente, sem aviso, desmaiar...
Aí estava a explicação. Benedita fora engenhosa, não havia dúvida. Enquanto Teresa lhe compunha o guardanapo no peito, sentiu uma súbita angústia ao pensar no preço por que teria de pagar aquele disfarce. Toda a tranquilidade se evolou, como um perfume deixado ao ar livre.
- Não me apetece comer! Leva isto, Teresa, leva isto tudo... E sai daqui...
A criada inquietou-se:
- Que é, minha senhora, sente-se pior?
- Não estou pior! É que não me apetece... Leva, leva, anda.. .
- Pois sim, já que assim o manda... Mas olhe que não faz nada bem ficar sem a ceiazinha!
- Não te incomodes. Sinto-me bem.
Teresa agarrou de novo o tabuleiro intacto e preparou-se para se retirar. Quase à porta, voltou-se:
- Deixo ficar a luz?
Maria Leonor hesitou:
- Não... sim, sim, deixa ficar!
- Quer que mande cá vir a Benedita?
Ela? Ali, sozinhas no quarto, forçosamente silenciosas, porque as palavras a dizer não poderiam ser ditas? Respondeu apressada:
- Não, não quero que venha! Quando eu chamar, vens tu, ouviste?
- Sim, minha senhora.
Teresa saiu, fechando a porta. Pela primeira vez, desde que Benedita entrara no escritório, quase a surpreendendo no chão agarrada ao cunhado, Maria Leonor viu nitidamente a situação: o que se passara era do conhecimento de Benedita.
O que faria ela agora? Podia dominá-la, escravizá-la, trazê-la agrilhoada ao pavor de revelar o escândalo, um dia, quando lhe parecesse...
O escândalo! Como tinha podido descer tão baixo?
Como, sem amor, sem que outra paixão, que não fosse a dos seus miseráveis sentidos, a cegasse, pudera apertar um homem nos braços, apertá-lo contra o peito, torcer-se sob o seu peso de animal cioso? Que miséria a sua! E agora? Que fazer? Em casa, à sua vista constantemente, uma mulher que não vira, mas que sabia... O olhar claro e puro dos filhos, a confiança dos amigos, o seu trabalho, tudo o que até ali constituíra a sua razão de viver, ficava à mercê de uma inconfidência, de uma palavra solta, de um gesto denunciador.
E, então, seria a vergonha, o escarro na face, o olhar desviado, a reprovação no rosto dos outros, os ditos murmurados, as insinuações torpes a sugerir pormenores lúbricos... E ele?
O que faria, também? Ele, que quase a possuíra, o que diria, o que pensaria?
Um novo medo se apossava de Maria Leonor: o de encarar o cunhado, de falar-lhe. Como poderia estar diante dele, sós ou acompanhados, vendo-o mover-se, ouvindo-o falar, sentindo nos seus gestos e nas suas palavras as intimidades dos seres que se conhecem fisicamente? E a mesma pergunta voltava, insistente, perseguindo-a como um cão de fila:
«Como fora possível?..» Deitada na cama desfeita, Maria Leonor era um farrapo.
Em toda a noite não dormiu. Pela madrugada, o candeeiro, sem alimento, apagou-se.
Na escuridão, apenas esbatida junto da janela, por onde entrava uma luz indecisa, opalescente, chorou então, como se na claridade tivesse vergonha até do próprio choro. Depois, exausta de forças e de lágrimas, num abatimento que lhe obscurecia a razão, ficou prostrada, os olhos enxutos, imóveis, arregalados para o tecto, que não viam.
Lá fora, a noite ia terminando vagarosamente. E foi numa crescente angústia que Maria Leonor começou a perceber os rumores do dia que despertava. Foi, primeiro, o canto claro, de uma limpidez de cristal, de um galo na capoeira. Depois, o chiar dos carros de bois, que passaram rente ao prédio, fazendo tremer as janelas, e, quando já a luz ia mostrando os objectos no quarto, o ruído das portas que se abriam e fechavam, o som dos passos que ecoavam na casa. Eram, todos eles, os ruídos habituais das suas madrugadas. Mas tinham agora um significado diferente: era o dia que chegava, os rostos que viriam até si, as perguntas a que seria forçoso responder, a verdade, quem sabe?, que se desvendaria para mostrar a face envergonhada. E, então, teria de
levantar-se e entrar no círculo vivo dos habitantes da casa, deixar aquele refúgio, onde, apesar de tudo, se sentia segura...
De repente, começou a ouvir no fundo do corredor, perto da escada, vozes que dialogavam alto. Chegavam-lhe aos ouvidos rumores de objectos arrastados, um baque surdo de qualquer coisa pesada que caía. Ergueu-se na cama, inquieta, procurando descobrir o motivo do rebuliço. Agora, as vozes passavam rente à porta, possivelmente a caminho do escritório. E daqui, logo depois, veio um ranger de gavetas abertas. Na escada, deslocavam um objecto pesado, que batia sucessivamente nos degraus, cada vez mais baixo, até ao rés-do-chão. As vozes tornaram a ouvir-se, mais fortes, e desta vez pararam em frente do quarto. Ali amorteceram-se, segredando, e continuaram.
Em baixo, a porta que deitava para a quinta abriu-se e houve na alameda uma multidão de rumores confusos, onde sobressaía o bater das patas de um cavalo nas pedras da valeta. Alguém falou ao animal e, imediatamente, ouviu-se o rodar de uma carroça na areia do caminho.
Maria Leonor dava tratos à imaginação no esforço de descobrir a causa que obrigara, tão cedo, a um tal barulho.
Exausta como estava, nem sequer lhe ocorrera levantar-se para espreitar. E agora que tudo terminara, recaía na sua lassidão, indiferente sobre a almofada.
O quarto estava já completamente claro. De fora, vieram, compassadas, as oito horas. Maria Leonor mexeu-se na cama buscando posição mais cómoda para descansar. Uma dor muito fina varava-lhe as costas. Esticou as pernas, suspirando, e fechou os olhos cansados, que se debruavam de escuro numas largas e fundas olheiras. Por momentos, foi a Maria Leonor dos dias felizes, quando, no morno dos lençóis, sentiu o corpo lasso repousar. Os lábios, amargamente curvados, descerraram-se num sorriso triste, que lhe descobriu os dentes amarelados pela febre.
Ia adormecer, quando, num estremecimento brusco, abriu os olhos, assustada. O coração batia com força e ela ouvia a ressonância surda do vibrar das costelas. No momento exacto em que ia mergulhar no sono, o pensamento alumiara brutalmente no cérebro o canto escuro onde se escondera o fantasma que a perseguia. Voltada para a Virgem, eternamente muda e bendita, estendeu-lhe as mãos súplices num pedido angustioso de paz e de salvação. Quando acabou a prece, tombou, amarfanhada, os olhos pregados na imagem, que sorria, na plenitude do êxtase que parecia desprendê-la da nuvem de porcelana branca que a retinha.
Bateram de leve na porta. O silêncio no quarto ficou maior depois daquele ruído. A voz de Maria Leonor tremia, quando disse:
- Entre, quem é...
A porta abriu-se com cautela. Maria Leonor fechou os olhos, temerosa da visão. No escuro ouviu passos que se aproximavam da cama. Apertou as pálpebras com mais força. Era horroroso saber que, ao abri-los, veria Benedita na sua frente, a face impassível, a fronte severa rispidamente enrugada...
- Então, minha senhora, como se sente?..
Não era ainda Benedita. Era Teresa, com o pequeno-almoço. No suspiro de alívio que entreabriu os lábios de Maria Leonor, houve também decepção. Tinha de aguardar, e o adiamento trazia-lhe novas torturas.
Enquanto Teresa a servia, olhou de soslaio para ela e ficou surpreendida ao ver-lhe a expressão indignada. Também esta saberia?
Sentindo um nó na garganta, perguntou baixinho, os olhos na xícara de leite:
- Que é que tens, Teresa?
A rapariga deu um suspiro, desabafou:
- Parece impossível, minha senhora!.. É uma vergonha que o senhor António Ribeiro viesse de tão longe aqui, só para fazer o que fez!
Maria Leonor recuou espavorida, e a voz sumiu-se-lhe, ao perguntar:
- O quê, rapariga, que dizes tu?
- Já disse. É o cunhado da senhora, bem sei, mas lá por causa disso não deixo de dizer que se portou como um velhaco!
Maria Leonor recusava-se, não queria compreender. Pois era possível que Benedita tivesse tão ignobilmente espalhado a sua loucura, o seu nome? Toda a gente sabia...
Insistiu, apesar de tudo incrédula:
- Mas o que dizes tu? O que é que tu sabes? Quem foi que te disse?
A criada respondeu num fôlego:
- Foi a Benedita. Logo de manhã, assim que nos levantámos, chamou-nos à cozinha e contou tudo!
A voz de Maria Leonor era um sopro, apenas.
- Tudo, Santo Deus!... Que vergonha...
- Diz muito bem, minha senhora, que vergonha!... Querer tirar o pão à senhora e aos meninos. É de velhaco, pois!
Maria Leonor apertava a cabeça entre as mãos, como uma doida. O pão? Mas qual pão? Não se tratava disso.
Havia ali um tremendo equívoco...
A criada continuava:
- Um senhor doutor devia ser mais honesto! Agora vir aqui, de propósito, para exigir, não sei porquê, metade do que é da senhora, só da senhora e dos meninos...
Ah, era aquilo! Mas então... o que se passara? O que houvera debaixo daqueles tectos desde que se fechara no quarto? Pensava já se não teria endoidecido, quando a criada continuou:
- Já lá vai embora. E olhe, minha senhora, que a Benedita deu-lhe uma desanda como ele não deve ter ouvido muitas, nem do pai!... Quando subiu para a carroça, até levava os olhos avermelhados, parecia que tinha chorado. Não, que a Benedita quando quer sabe dizê-las!...
Na sua animação, Teresa, exaltada, batia com os pés no chão, gesticulando. Maria Leonor deixara-se cair para trás, sobre o travesseiro, e ria, ria perdidamente, com um riso que se assemelhava a um soluço. A criada espantava-se perante a alegria ruidosa da sua senhora, que quase perdia a respiração. E começou a rir também.
De súbito, num arquejo estrangulado, o riso morreu na garganta de Maria Leonor. No vão da porta surgira Benedita.
Vinha tal qual a imaginara durante as horas insones da noite: hirta, com a face dura e hostil, o andar silencioso, o aspecto de uma acusação viva. Baixou os olhos para as mãos, que tremiam na dobra do lençol. Teresa sufocava os últimos froixos de riso.
Benedita parou ao lado da cama e murmurou:
- Muito bom dia, minha senhora.
Maria Leonor levantou os olhos e respondeu, numa voz sumida, que parecia quebrar-se a cada inflexão:
- Bom dia, Benedita...
A criada continuou:
- Está melhor? - e sem esperar resposta: - O senhor António Ribeiro resolveu, depois do que se passou ontem, partir novamente para o Porto. Deixou uma carta, que entrego à senhora...
Tirou do bolso do avental um sobrescrito fechado. Maria Leonor fez um gesto de recusa, mas qualquer coisa no olhar de Benedita a obrigou a agarrar a carta, que logo deixou cair no colchão, como se queimasse.
Rasgou o sobrescrito e tirou de dentro uma folha de papel de carta, rabiscada à pressa. Leu para si:
«Maria Leonor: Vou para o Porto. Perdoa-me. Esquece o que se passou ontem. Eu vim aqui para te exigir metade da quinta. A Benedita sabe... Adeus. António.»
As mãos de Maria Leonor tremiam convulsivamente.
A face ergueu-se para Benedita, numa expressão de humildade infinita, de um reconhecimento sem limites.
A criada perguntou:
- Então?!...
Era uma ordem. Era preciso ainda ser comediante. E Maria Leonor, sentindo o rosto afoguear-se-lhe numa onda de vergonha, balbuciou:
- Pede desculpa...
Benedita fez, compreensiva:
- Ah, sim!...
Voltou-se para Teresa e disse, com toda a calma:
- Vamos, menina! Há muito que fazer hoje: a primeira coisa é limpar o quarto onde esteve o senhor António Ribeiro... Abrir a janela, arejar bem...
Saiu com a companheira. À porta, voltou-se e disse para a patroa, que se deixara ficar imóvel, atordoada pela simplicidade dramática com que a questão se resolvera:
- Acho melhor que essa carta desapareça, minha senhora. Pode queimá-la, por exemplo...
Maria Leonor olhou a carta, que ainda segurava entre os dedos, e respondeu, muito humilde:
- Pois sim...
Quando ficou só, pousou a carta sobre o tampo de mármore da mesinha-de-cabeceira. Depois, tremendo, sem atinar nos gestos que fazia, riscou um fósforo. A labareda rompeu bruscamente, mas logo se apagou. Riscou ainda outro fósforo e chegou-o ao papel.
O bordo da carta enegreceu ao contacto da chama e torceu-se todo sobre si mesmo. A combustão começou rápida, e, em breve, devorava as letras traçadas.
Daí a segundos, atirando um clarão mais alto para o ar, a chama apagou-se, deixando ficar apenas uns pontinhos luminosos, que corriam na cinza negra. Sobre a pedra, depois de extinta a labareda, a folha de papel encarquilhava-se ainda, como se nas suas fibras ténues se crispasse um nervo oculto.
Um soluço sufocado sacudiu o peito de Maria Leonor.
Ergueu-se da cama e, ao levantar a roupa que a cobria, a corrente de ar provocada atirou para o chão o pedaço de papel queimado. Num gesto irreflectido estendeu as mãos para o agarrar e apertou-o nos dedos antes que caísse. A cinza desfez-se em pequeninas partículas negras.
A notícia da partida de António Ribeiro espalhou-se na Quinta com uma velocidade incrível. Quando o pessoal largou o trabalho para o almoço, todos sabiam já que o cunhado da senhora viera do Porto para reclamar, embora sem razão, parte da propriedade, que tinha havido uma tremenda cena entre eles, de tal modo que a senhora ficara abalada e tivera de recolher à cama, com febre. Segundo a opinião geral, fora Benedita quem o pusera fora de casa e citava-se o ar acabrunhado que António levava quando partira.
Sentados à sombra das árvores, durante a sesta, enquanto o Sol a prumo faiscava na terra ressequida, os trabalhadores faziam comentários irritados à conduta do irmão do amo defunto. E havia quem apontasse novos pormenores ouvidos da própria boca de Benedita, que afirmara saber que o senhor António Ribeiro só muito tarde voltaria à Quinta, talvez mesmo nunca...
Da cozinha, do lagar, da horta, levantava-se um coro de execração ao mau parente que quisera roubar. E de um lado para o outro, incansável e corajosa, Benedita corria a sua via-sacra, incitando os ânimos ao desprezo e ao ódio ao usurpador logrado, que se espantara como um corvo medroso, perante a resistência de duas mulheres. E havia risos de troça naquelas bocas talhadas pelos haustos do ar livre, e havia um encolher desdenhoso naqueles ombros calejados pelos carregos.
Ridicularizava-se o caçador caçado, o que viera pela lã e ficara tosquiado...
Quando os homens voltaram ao trabalho, sentiram, ao deitar as mãos aos cabos das enxadas e das pás de limpar trigo, a segurança de quem ainda pisa chão que lhe pertence, de quem, depois de um susto, recobra, pouco a pouco, a calma que lhe modera as palpitações exaltadas do coração. E durante a tarde, enquanto o trigo subia e descia no ar como poalha de ouro largando as escórias, ouviram-se na eira comentários ao acontecimento.
- O fidalguinho, hem?!... Não era eu que o queria para patrão.
- Nem eu! Largava-o logo!
E em volta do nome de António Ribeiro erguia-se uma atmosfera de maldade. Naquele momento todos lhe recusariam água se o vissem morrer de sede, todos passariam de largo se o vissem cair à beira de um carreiro.
Em certa altura, quando Benedita atravessou a eira para o lagar, suspenderam o trabalho para a seguir com os olhos, num agradecimento mudo, que tocava a veneração. Depois, voltaram à labuta, enquanto Jerónimo ia contando de grupo em grupo o que se passara até que António Ribeiro subira para o comboio que o levara.
Quando o Sol desapareceu, abandonaram o trabalho.
E, em magotes, com as jaquetas postas ao ombro e o barrete descaído para os olhos, as ferramentas num tinir de aço que ritmava a marcha, saíram da Quinta, a caminho de casa, para Miranda. Quando passaram debaixo das janelas de Maria Leonor levantaram os olhos e, insensivelmente, subiram a voz a fazer sentir a sua presença, provando a continuidade da sua dedicação.
À noite, depois da ceia, nas tabernas de Miranda, foi o recontar da história, já aumentada, em estilo de lenda tenebrosa, que fazia espantar as faces dos que ainda ignoravam.
Na taberna de Joaquim Tendeiro ia um burburinho exaltado, uma profusão de gestos explicativos que representavam a pantomima do drama com requintes de arte. E todos tratavam de impressionar o ânimo do dono da casa, aumentando sempre, a cada relato, a imensidade da exigência malvada.
O Joaquim Tendeiro era o fornecedor de mercearias da Quinta. Era preciso que soubesse bem que aquilo ainda era da senhora dona Maria Leonor... Mas ele, curioso como o gato da história, queria saber mais pormenores, mais pormenores...
- Mas havia alguma razão legal a que o senhor António Ribeiro se pudesse apoiar para a exigência?
O taberneiro tinha a preocupação da bela-frase, e a leitura quotidiana do jornal
trouxera-lhe aquele «legal», de que se agradara e que empregava a torto e a direito. Os homens, simples como as enxadas, viam-se sempre em palpos de aranha para o entender naqueles devaneios linguísticos, e desta vez custava-lhes a compreender como poderia o senhor António Ribeiro encostar-se à razão legal. Acabaram por encolher os ombros: só sabiam o que tinham ouvido contar e isso chegava-lhes... Quanto às razões legais, o diabo as levasse... O dono da taberna resignou-se a não saber o motivo, o porquê, e em toda a sociedade foi o único que pensou que deveria existir um porquê. De resto, isso também não lhe importava, mas, enquanto limpava o balcão enxovalhado com um pano mais enxovalhado ainda, ia ruminando que, se a Benedita tivesse consentido em casar com ele, estaria agora na intimidade da família e poderia saber... Era a sua grande dor. Tentara aquela oportunidade de subir na escala social da terra e falhara.
Encostado a uma pipa, onde riscara a giz o preço do conteúdo por litro, o taberneiro sonhava, torcendo o trapo, que era como que a insígnia da sua profissão.
E, num repelão de incompreendido, odiou o negócio, o vinho, Benedita, a Quinta, quando, de uma mesa onde se jogava a bisca no meio de uma espessa nuvem de fumo, alguém reclamou:
- Mais uma roda, ti Jaquim!...
Ti Jaquim, hem!... Uma roda mais para aqueles borrachos! E enquanto enchia os copos ia, mentalmente, misturando veneno no vinho... Ao servir a bebida, rebentou na ponta da outra mesa uma questão.
Já havia momentos que se discutia ali a competência de dois dos presentes na podagem das oliveiras. Enquanto um teimava que, a não ser a serrote, o corte não ficava bem feito, o outro berrava, vermelho, agitando os grossos punhos, que era capaz de podar uma oliveira e deixar os cortes tão lisos como uma vidraça, e tudo isto a podão...
- A podão, ouviste bem? A podão, alma de cântaro!...
O outro contravinha: que não, que a serrote era mais seguro e que isso da vidraça era história... A isto, o do podão perdeu a calma por completo, e, erguendo-se nas pernas já trémulas do branco, desafiou o adversário para ir com ele à Vinha do Pato, ver um corte que fizera há mais de dez anos e que estava ainda tão liso e macio como uma vidraça...
E a podão...
Saíram os dois da taberna, encostados um ao outro, com todo o ar de quem não passaria da esquina mais próxima.
O taberneiro, aborrecido, entrou de bocejar, e daí a pouco ia empurrando para a porta os últimos fregueses, que, em roucas despedidas, se dispersaram na rua, a caminho de casa.
Depois da taberna vazia, voltou para dentro a dar uma arrumadela nos bancos e a limpar as mesas cobertas de nódoas de vinho. Limpou as mãos ao avental molhado e voltou à porta para a fechar. Já tinha corrido os fechos de meia porta quando ouviu, no largo escuro e silencioso, o trote de um cavalo. Afirmou-se na escuridão para ver quem era, mas o cavaleiro poupou-lhe o esforço, dirigindo-se para ele. Ao apear-se, entrou no feixe de luz que se projectava pela porta sobre a praça. Era o doutor Viegas.
- Boa noite, Joaquim! Já ias fechar?
O taberneira curvou-se:
- Boa noite, senhor doutor! Já ia fechar, sim senhor!...
Mas cá o estabelecimento, para o senhor doutor, está sempre aberto. Faça favor de entrar.
O médico entrou e sentou-se, enquanto o taberneiro corria a um armário, donde tirou um copo limpo e uma garrafa de vinho do Porto.
- O costume, não é, senhor doutor?
- Sim, claro, o costume...
Quando voltava das suas visitas nocturnas, passava sempre pela taberna para beber um copo de Porto de 18 º, que o taberneiro guardava avaramente para as pessoas de posição na terra. Ultimamente, só o doutor Viegas provava do néctar, e os momentos em que ele sorvia regaladamente o precioso vinho eram, para o taberneiro, dos mais agradáveis da sua vida. Sentia-se quase igual a Viegas por ter um vinho que os colegas não tinham, um vinho que merecia ser bebido por médicos. Neste estado de espírito se sentou defronte de Viegas, vigiando-lhe o sorriso agradado e a face bem-disposta inclinada sobre o copo, onde o vinho cintilava como uma jóia rara.
Viegas bebeu um gole lento, saboreador, e perguntou, enquanto pousava o copo:
- Então, Joaquim, que novidades contas?
O taberneiro encolheu os ombros:
- Ora! Não há novidades... Tudo velho... A não ser aquilo da Quinta, que o senhor doutor já conhece, com certeza...
O médico surpreendeu-se:
- Aquilo da Quinta? Qual quinta?..
- Qual quinta? Da Quinta Seca, senhor doutor! Ai, o senhor doutor ainda não sabe?
- Eu sei lá o que isso é! Mas o que é que se passa?
Há por lá alguém doente?..
O taberneiro interrompeu. Nada disso. Ao que parecia, o senhor doutor ainda ignorava. Pois então, se o senhor doutor desse licença, ele contaria como os factos se tinham passado, segundo, claro, tinham chegado ao seu conhecimento.
Pela absoluta veracidade da história não se responsabilizava, evidentemente, sabido como era... Mas ele contaria...
E contou. Viegas ouviu-o com atenção, sem interromper, mas, quando ele acabou, respondeu, duvidoso:
- Mas que diacho de história é essa que tu tens estado para aí a desfiar? Quem te contou esses disparates?
Ao ouvir classificar de disparate o que tinha ornado das suas mais belas flores de retórica, o taberneiro respondeu, agastado:
- Disparate? Não me parece que seja disparate! Quem veio para aqui com isso foram os criados da Quinta e eles com certeza não inventaram!...
O médico já não ouvia e ruminava:
- Ora essa... ora essa...
O taberneiro juntou:
- O senhor doutor está admirado, não?! Olhe que eu também não fiquei somenos! E bem me parece que ali deve haver coisa...
- Que coisa?
- Não sei... qualquer coisa, compreende, senhor doutor, qualquer coisa que... que...
Procurava a palavra, aflito para completar a frase. Olhou o avental molhado e concluiu com um sorriso de satisfação:
- Qualquer coisa que não transpirou, claro!...
O médico gracejou:
- Com um calor destes, acho difícil que não tenha transpirado. Bom, amanhã eu sei isso.
Foi até à porta e espreitou. A Lua começava a erguer-se por detrás do telhado da igreja. A cruz cimeira desenhava-se, negra, no fundo claro do céu. O largo, silencioso, alvejava sob o luar. Viegas esfregou as mãos e disse para dentro:
- Bom, eu vou-me embora. Tenho o animal a arrefecer...
Boa noite! Obrigado pelo vinho.
Montou na égua e partiu a trote. Ao dobrar a curva da estrada, acenou um adeus ao taberneiro, cuja silhueta aparecia entre as ombreiras da porta. O tendeiro ficou por momentos a olhar para fora e resmungou qualquer coisa ao ver a massa branca da igreja
avultando entre o casario baixo da praça; o taberneiro era um homem de ideias e ninguém o faria convencer que a igreja valesse mais que as supraditas... E mais:
Já o dissera na Regedoria e ninguém o prendera por isso!...
Deu um puxão decidido no avental e fez aquilo a que chamava, vaidoso da frase, fechar a porta na cara da igreja:
encerrou a taberna.
Depois, lá dentro, deu uma vista de olhos, contemplativamente, pelo estabelecimento. A simetria das mesas, as garrafas alinhadas nas prateleiras encheram-no de prazer e orgulho: era aquilo que «dona Benedita» recusara. Pois também houvera quem aceitasse...
Ao aproximar-se da mesa a que se sentara o médico, estacou, admirado: ficara vinho no copo! Então, cuidadosamente, com a aplicação de quem mexe em fragilidades, tornou a vazar para a garrafa o vinho que restara, aquele precioso vinho de 18 º, que reservava para as pessoas de posição!
Guardou a garrafa no pequeno armário e, depois de um último relance de olhos pela taberna, apagou a luz e subiu, às apalpadelas, ao primeiro andar, onde, no leito do casal, já dormia a sono solto a co-proprietária do estabelecimento.
O taberneiro despiu-se depressa e deitou-se. Virou prosaicamente as costas à mulher e daí a pouco adormecia...
Entretanto, pela estrada que o conduzia a casa, Viegas moderava o trote da égua até ao passo. E atravessando os olivais enluarados e silenciosos, ia cismando nas coisas extraordinárias que o taberneiro lhe contara. Que história seria aquela da exigência de metade da propriedade? Era evidentemente um disparate, uma invenção sem pés nem cabeça.
Ao chegar ao sítio onde devia largar a estrada para atravessar o rio a vau, ainda pensou em ir à Quinta, dando depois a volta para casa, pela ponte, mas acabou por encolher os ombros com indiferença e obrigou o animal a entrar na água. Na outra margem, os salgueiros formavam uma muralha negra, que se alongava sempre da mesma altura, como se fosse aparada à tesoura, e projectava, quase até metade do rio, as pontas flexíveis dos ramos mais novos. De espaço a espaço um choupo elevava-se para o céu, torcido e esgalhado, e ficava lá em cima com o topo brilhando ao luar, oscilando ao impulso do vento leve. Entre as patas da égua, que atravessava o rio, a água passava rumorejando, em bolhas de ar, que seguiam na corrente, até adiante, debaixo da sombra das árvores, onde rebentavam.
No outro lado, a égua sacudiu-se, num estremeção de todos os músculos, agitando a cauda farta sobre os flancos.
Viegas parou o animal no cimo da ribanceira e ficou-se a olhar o campo raso que se estendia em frente, banhado da claridade leitosa do luar, rasgado em sombras negras nos sítios onde cresciam árvores. Havia uma paz imensa em toda a terra em redor.
No dia seguinte, o trabalho na Quinta recomeçou à hora habitual. Na eira, os mesmos braços da véspera atiraram ao ar o trigo, que se ruborizava na claridade do amanhecer.
Os mesmos bois puxaram os mesmos carros, com a mesma infinita paciência e a mesma suprema força. Um vento igual soprou nos ramos das acácias que bordavam a alameda e os ramos oscilaram com o mesmo vagar e o mesmo rumorejo. Dentro de casa, porém, andava na atmosfera qualquer coisa de estranho, de diferente. Havia no ar como que um rumor surdo de batalha, uma trepidação de esforços contrários, uma expectativa ansiosa, que aguardava não se sabia o quê. Naquela casa, cheia de mulheres, ia um fervilhar invisível de suspeições discretas.
A noite fora, para Maria Leonor, outra longa e persistente insónia. Mas desta vez não eram o remorso e a vergonha que lhe roubavam o sono. Procurava reconstituir, friamente, o que se passara, e de deduzir, daí, o futuro, arquitectar a sua linha de conduta em relação a toda a gente: filhos, criados, amigos... Via com clareza que nada tinha a recear a respeito de qualquer indiscrição: o comportamento de Benedita, a sua preocupação em explicar tudo, a convenciam disso. Assim, restava-lhe apenas manter lá bem no fundo da sua falta, onde não chegassem nunca as recordações, tudo o que fora a origem daqueles dias pavorosos.
Surpreendia-se ao sentir-se vagamente cínica: a sua incapacidade para sofrer mais embotara-lhe a sensibilidade até à indiferença. Quando se levantou, tinha o semblante sereno e o olhar límpido, pacificada e segura de si própria, como se detivesse nas mãos, para todo o sempre, as rédeas que conduziam o seu destino.
Depois de proceder a uma toilette sumária, desceu ao rés-do-chão. No caminho
cruzou-se com Teresa, que subia.
Ao mesmo tempo, pela porta, escapava-se, rápido, um vulto de homem. Maria Leonor sorriu, complacente, e respondeu à saudação da criada. Era o amor vivo que trazia sempre, à vista um do outro, Teresa e o namorado. Não podia deixar de ser assim: aquilo, a procura constante dos sexos, era velho como a vida, mais velho ainda do que a própria vida, porque o anseio amoroso deveria ter existido, completo e definido, nos desígnios da criação, do princípio.
Enquanto assim desenvolvia no espírito aquele início de uma filosofia do amor, Maria Leonor acabou de descer a escada e caminhou rapidamente até à porta. Ao chegar lá, aspirou, deliciada, o ar fresco, como uma agulha, e olhou a Quinta na sua frente por entre os troncos das acácias.
Demorou a vista, um pouco, no pedaço da eira que via dali e voltou para dentro. Da sala de jantar vinha um ruído de chávenas e talheres. Hesitou antes de entrar: sabia que lá dentro ia encontrar Benedita, estar com ela a sós pela primeira vez, desde a partida do cunhado. Retesou-se toda numa energia decidida, tentando subjugar a fraqueza. Ao chegar à porta, ouviu um estilhaçar de louça. Furiosa com o estrago, irrompeu na sala, esquecida já da sua cobardia.
Benedita, no topo da mesa, olhava aborrecidamente um pedaço de uma chávena que segurava nas mãos: o resto espalhava-se no chão, em mil bocados. Ao ouvir a ama entrar, pousou o fragmento que lhe restava em cima da mesa, e aguardou, de olhos baixos.
Maria Leonor, numa agitação insofreável, quase gritava:
- Parece-me que é preciso ter mais cuidado com essas coisas! Não te parece, a ti?
Pelo rosto de Benedita passou a sombra de um sorriso e logo o pânico começou a invadir a alma de Maria Leonor.
Inteiriçou-se no esforço de resistir ao medo que se apossava dela, e continuou:
- Não posso admitir que estragues coisas tão caras, só porque tens de lhes mexer!
Perdia a cabeça. Sentia-se afundar à medida que falava.
As frases que ia atirar ao rosto da criada perderam-se num murmúrio. Depois, foi o que ela mais receava de tudo, foi o silêncio. E o mesmo sorriso, apenas esboçado, perpassou nos lábios de Benedita. Era um sorriso calmo e seguro, um sorriso de quem tem a consciência da própria segurança.
A criada baixou-se e começou a apanhar do chão os bocados de porcelana. Foi só quando os tinha recolhido todos que respondeu, enquanto os alinhava em cima da toalha:
- A senhora tem razão! Peço-lhe que me desculpe. Farei o possível para que isto se não repita...
Seria uma insinuação? Haveria outro sentido naquele «farei o possível para que isto se não repita»? Maria Leonor de novo se sentiu acobardada, de novo o medo entrou nela, empolgando-lhe o coração. E sem poder falar, com a garganta apertada, saiu da sala. Lá dentro tornou a ouvir-se o mesmo ruído de talheres e louças que se dispunham para a refeição da manhã. Tudo normal, tudo dentro do que já conhecia, tudo igual ao que o dia-a-dia da sua existência a habituara, tudo menos aquela sensação de isolamento, de insegurança...
E de súbito veio-lhe uma vontade grande de voltar ao pé de Benedita, de contar-lhe as suas torturas, de pedir-lhe esquecimento e consolação. Sorriu com desalento. Encaminhou-se para uma poltrona e acomodou-se, suspirando. Estranha na sua própria casa, eis como se sentia. E, medrosa de se encontrar outra vez com Benedita, deixou-se ficar sentada, esperando que os filhos descessem.
Com as mãos cruzadas no regaço, esquecia-se nos seus pensamentos, quando um rumor de passos à entrada a fez levantar os olhos. Viegas entrava apressadamente, e não vendo logo Maria Leonor, quase escondida na penumbra do vão da escada, passou os olhos em redor, investigando.
Ao vê-lo caminhar para a sala de jantar, Maria Leonor, de um salto, ergueu-se:
- Bom dia, doutor!
O médico voltou-se, franzindo os olhos míopes.
- Ah, estavas aí! - e mudando de tom: - Então, bom
dia!...
Foi até junto dela em três passadas rápidas e perguntou bruscamente:
- Ouve cá, que história é essa que me contaram ontem, a respeito de António?
Maria Leonor recuou um passo, como se tivesse apanhado um soco em pleno peito, e empalideceu. Abriu muito os olhos para o médico e tentou sorrir:
- História?! Mas deve ser o que toda a gente sabe...
A propriedade...
Viegas enfiou as mãos nas algibeiras e cortou, decidido:
- Não acredito!
Maria Leonor recuou mais ainda até à poltrona. E, como se as forças lhe tivessem fugido subitamente, deixou-se cair nela. O médico avançou de novo e inclinou-se para diante até pousar as mãos nos braços da poltrona. E repetiu, mais baixo:
- Não acredito!...
Fechada no círculo vivo dos braços do médico, Maria Leonor não podia fugir. E então, corajosamente, inclinou-se para trás e mostrou o rosto angustiado. Os olhos de Viegas debruçaram-se, ansiosos, e correndo dos lábios crispados, pelas faces pálidas, até aos olhos dela, ali mergulharam, ávidos. No desvairamento daquele olhar de animal perseguido, nas lágrimas que começavam a surgir entre as pálpebras, viu a verdade. E, na sua estupefacção, só pôde murmurar:
- Como pudeste, Leonor?..
Um soluço angustiado lhe respondeu. Dentre as lágrimas, por detrás das mãos que lhe tapavam a face envergonhada, Maria Leonor balbuciou:
- Não houve nada... não houve nada...
A voz era um murmúrio cansado, um som prestes a extinguir-se, e todo o seu corpo tremia num arrepio febril, que lhe entrechocava os dentes. O médico ergueu-se, olhou-a por momentos, calado, e, depois, dando passos vagarosos pela sala, disse, como se fosse lendo o pensamento à medida que falava:
- Mas, Leonor, eu não posso compreender isto... Vejo nos teus olhos, em todo o teu aspecto de aniquilada, uma verdade horrível, em que não quero acreditar. Diz-me, por caridade, o que se passou? Mas diz, fala!...
Maria Leonor debateu-se no fundo da velha poltrona contra os soluços que a sufocavam, e numa crise de choro que a fazia tartamudear como uma imbecil, repetiu:
- Não houve nada...
Viegas impacientou-se e foi num arremesso irritado que atirou:
- Nada ou tudo?
Ela levantou-se, direita como a lâmina de uma espada, com todo o sangue no rosto, e ia responder, violenta, mas logo a mesma humildade, o mesmo sentimento de culpa lhe baixaram a voz, cobardemente:
- Não, doutor, juro-lhe que não houve nada...
Baixou a cabeça e, como se todo o pudor a abandonasse, continuou:
- Não houve nada... A Benedita apareceu!...
O médico, sob o choque, quase se agachou. Diminui a voz:
- Mas a Benedita sabe? Viu?
Maria Leonor encolheu os ombros com desalento:
- Não sei... Não viu, mas é como se tivesse visto, tão estupidamente eu procedi. Insultou-me, bati-lhe... E foi ela quem inventou a história da propriedade!
- Para quê?
- Não sei... Finge que ignora, fala-me como antigamente, mas parece-me um fantasma... Sinto que a minha vida está nas suas mãos, que terei de submeter-me aos seus caprichos!
O médico sacudiu os braços, furioso:
- Irra! Mas que disparate é este? Isto é um absurdo, é uma história inventada por vocês para darem comigo em doido! Ouve cá...
Interrompeu-se: a porta da sala de jantar abrira-se lentamente e por ela saía Benedita. Maria Leonor estremeceu ao vê-la e olhou para o médico. Viegas franziu as sobrancelhas e ficou-se a olhar para a criada, que atravessava a sala, silênciosa e indiferente. Apenas ao roçar o ombro do médico murmurou um «bom dia, senhor doutor!» quase inaudível, e desapareceu atrás de um reposteiro.
O médico riu, nervoso:
- Não há dúvida, é um fantasma! Um fantasma a que me apetecia quebrar uma costela para lhe medir a sensibilidade! No fim de contas, que quer ela?
- Já lhe disse: não sei!... Acaba por ser-me indiferente, mesmo! A mim é que o doutor não conseguiria medir a sensibilidade; estou farta, tenho desejos de fugir, de desaparecer!...
Exaltava-se. Os olhos brilhavam com um fulgor louco e as mãos, crispadas nos seios, pareciam garras. O médico inquietou-se e puxou-a um pouco para si:
- Sossega, Maria Leonor... Subamos lá acima, vamos conversar.
Levou-a, impelindo-a suavemente à sua frente, e subiram a escada. Quando venciam o último degrau, ouviram no fundo do corredor um grulhar infantil e uns passos precipitados. Eram Dionísio e Júlia que saíam dos quartos com Teresa. Maria Leonor correu para uma porta aberta e escondeu-se. As crianças, agora perto da escada, palravam com o médico:
- O senhor doutor viu a mãezinha?
Viegas mentiu:
- Não. Ando à procura dela. Mas vão almoçar que, logo que a encontre, mando-a ir ter com vocês...
Júlia desceu com a criada, mas Dionísio, depois de espreitar a irmã, já no andar de baixo, segredou:
- Ó senhor doutor, quando é que eu vou para Lisboa?
O médico sorriu e respondeu, enquanto afagava a cabeça do rapaz:
- Vais este ano... quando acabarem as férias.
Em baixo, Júlia, de cabeça erguida, esganiçava-se a chamar pelo irmão:
- Nísio, vem almoçar!
O pequeno irritou-se e gritou, debruçando-se no corrimão:
- Já vou! Estou aqui a falar de coisas importantes... - voltou-se para o médico e continuou, interessado: - Bom!
E que vou eu ser?
- Não sei, Dionísio. Vais estudar e logo que saibas muito, quando já fores um homem, escolherás.
- E posso escolher o que quiser? O meu livro diz que nós somos sempre o que queremos. É verdade?
Viegas sorriu, enternecido
- Às vezes, Dionísio!... Às vezes, é assim. E tu, o que escolhes?
O rapaz, embaraçado, encolheu os ombros e respondeu:
- Ainda não sei. Quer dizer, eu sei, mas é uma coisa muito complicada...
No rés-do-chão, Júlia chegava ao limite da paciência.
E ameaçou:
- Vou contar até cinco! Se não desceres, como sozinha!
O irmão hesitou. Ia continuar a falar, mas a voz dela subia pela escada, impaciente:
- Um, dois, três, quatro...
Dionísio atirou-se pela escada abaixo:
- Pronto! Não contes mais! Já cá vou!...
Quando acabou de descer, voltou-se para o médico e informou, pesaroso:
- Bem, deixe lá, senhor doutor, eu depois digo...
- Pois sim, vai almoçar.
A porta da saleta onde Maria Leonor se refugiara abriu-se.
- Já lá vão? Ao que eu cheguei: ter de fugir dos meus filhos. Vamos para aqui!
Viegas entrou e, quando ambos se sentaram defronte um do outro, puxou do cachimbo, que acendeu, e ordenou:
- Conta.
Ela suspirou, passou as mãos pelos olhos para enxugar duas lágrimas e começou:
- Quisera neste momento não sentir vergonha, nem pudor, para lhe poder falar com a frieza que eu desejaria.
Mas não pode ser assim. Preciso de qualquer coisa que me dê a certeza da minha mesquinhez: olhe, doutor, vá ao escritório, peço-lhe, e traga... traga Os Primeiros Princípios de Spencer...
O médico levantou-se e saiu. Voltou daí a momentos com o volume e, quando o entregou, inquiriu:
- Para que o queres tu?
Quero sentir que, no fundo, isto nada vale, desde que eu mantenha a serenidade suficiente para não deixar de pensar na grandeza esmagadora do Universo. Quero sentir-me íntima, idêntica à fêmea irracional que atraiçoa pela primeira vez o macho preferido, já depois dele morto... Sei que é impossível sentir-me deste modo, mas, se o não consigo, um pouco que seja, não poderei chegar ao fim!
Apertou com força o livro contra o peito e continuou:
- É simples. Tudo isto é simples e claro, duma simplicidade e duma clareza naturais... Uma mulher, um homem, a chispa que salta, a razão que se encadeia, e é tudo... Quando sucedeu, baixa como a lama, abjecta como um escarro, pensei que não podia viver mais. Depois, acalmei-me, concluí que não agira propriamente como mulher, como representante de uma espécie distinta e superior, em que a posse animal foi adornada, crismada, enfeitada de palavras lindas, que a tornaram apresentável, capaz de não ofender os ouvidos mais castos e os sentimentos mais puros: eu procedera como a fêmea pré-histórica, que se embrenhava no mato, berrando, ciosa pelo macho, e que se espojava depois na terra fecunda e negra. Eu era joguete das forças naturais do sexo, as mais misteriosas forças da vida, que são o anseio íntimo para a imortalidade dos deuses. Foi pensando isto que me acalmei: desde que fora tudo consequência duma causa de que me não era possível defender, sentia-me irresponsável como o cavalo que alguém guia para um abismo.
Não me cabia responsabilidade na queda, alguém me impelia, alguém me guiava...
Aqui, suspendeu-se um instante, olhou para o médico, que a escutava, atento e impassível, e observou:
- Creio que sei o que está pensando. Desde o histerismo até à loucura, já admitiu todas as hipóteses, não é verdade?..
Viegas acenou:
- Não, estou a instruir-me, simplesmente...
- Sou, então, um objecto de estudo?
- Até aqui, és. Continua...
Maria Leonor perdia a serenidade. Mordeu o lábio inferior, tentando reprimir o tremor convulso do queixo, e prosseguiu:
- Tudo se recomporia se a consciência daquela irresponsabilidade se mantivesse, e eu sabia que tal era impossível.
Há pouco, senti de novo a minha abjecção, a altura da minha queda. A Benedita tem um olhar perfurante, que vasculha o mais escondido da minha alma. Tudo o que eu laboriosamente procurei reconstruir, esta teoria da fatalidade, desaba com um fragor horrível que me endoidece. Não resisto a esta perseguição, doutor! Eu morro!
O desespero das últimas palavras extinguiu-se no ar e, por longos momentos, o silêncio ocupou a saleta. Viegas soprava nuvens de fumo, enervadamente, e Maria Leonor, com o livro aberto nos joelhos, folheava-o, enquanto tentava estancar as lágrimas.
Súbito, o médico, num impulso irritado, atirou o cachimbo ao chão, estilhaçando-o. Levantou-se e foi até à janela, praguejando em voz baixa. Depois voltou e acercou-se de Maria Leonor. Inclinou-se para ela:
- Morres, hem?.. Ora, não digas disparates! Quem é que fala aqui em morrer? A vida é dos vivos e não dos mortos, que não servem para outra coisa senão para estar mortos e para atropelar os que vivem. Não fazemos mais que lidar com fantasmas e só não lidamos com esqueletos por simples repugnância. Admiro-me como ainda não chegámos ao extremo de guardar os nossos mortos em armários envidraçados providos de rodas, para nos acompanharem por toda a parte, a fim de que o defunto não perdesse nenhum dos nossos movimentos.
Mesmo assim, temos sempre ao lado um espectro qualquer, tão inevitavelmente agarrado a nós como a própria sombra, e é a ele que sacrificamos tudo, porque, em primeiro lugar, é preciso não o ofender, ainda que isso nos custe sofrimentos inenarráveis!
Maria Leonor aproveitou a pausa para dizer num tom de voz neutro e sem expressão:
- O doutor, lá em baixo, indignou-se, e agora quase aprova...
O médico corou, hesitando, mas respondeu:
- Não aprovo! Mas, entendamo-nos!... Lá em baixo falou a surpresa pela boca do convencionalismo rígido da moralidade habitual; aqui fala o homem natural perante o facto natural. Não foi assim que puseste a questão? Eu já previa isto... Esperavas agora que te censurasse, não é verdade? Neste momento pregam-se por esse mundo fora dezenas de sermões execrando o teu pecado, escrevem-se dezenas de livros em que se prova por a+b que uma acção dessas tem como remate necessário as penas do inferno. E depois de tudo isso, ainda querias que te censurasse? E quem há-de defender-te? Deus?
Maria Leonor teve um gesto de fadiga e murmurou:
- Ele defendeu uma mulher da lapidação...
Viegas encolheu os ombros:
- Isso foi há dois mil anos! Deixa-te de misticismos.
Nem agora se lapidam mulheres, nem Cristo anda no Mundo...
De novo o silêncio voltou. Na saleta só se ouviam soluços abafados e um ranger de botas em passos inquietos.
Maria Leonor ergueu-se custosamente da cadeira e foi até ao médico. Viegas parou e ambos ficaram imóveis no meio da sala, olhando-se. O aspecto amarfanhado de Maria Leonor, o seu rosto desfeito, as profundas rugas - que lhe desciam das asas do nariz até às comissuras dos lábios - comoveram Viegas. Segurou-a pelos ombros e puxou-a para si, com ternura. E, com a cabeça encostada ao seu ombro, foi dizendo, baixinho, insinuando:
- Isto não pode continuar assim, Maria Leonor! Tu deves reagir, deves levantar bem essa cabeça infeliz e, mais do que tudo, deves dominar esse nervosismo que te apoquenta constantemente. Ainda que te reconheças culpada, não pode isso ser motivo para te deixares vencer na luta que és obrigada a travar com o destino.
Conduziu-a de novo para a cadeira e sentou-se também.
Depois inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e continuou:
- Lembro-me de que quando estiveste doente te disse qualquer coisa que também poderia repetir agora. Mas é inútil. Tu recordas-te com certeza... A situação não é a mesma, mas as causas são idênticas.
- Bem sei. Não precisa repetir-mo, eu lembro-me: é preciso viver de qualquer modo, embora, desde que seja viver! - e num assomo de raiva: - Mas é tão duro, tão contra a ideia que se faz da finalidade da vida, que penso se não seria preferível a morte!
Viegas retorquiu, docemente, como se falasse a uma criança:
- Não, morrer, não! Só quem nunca viveu, ou já viveu de mais, pode desejar a morte...
- Eu já vivi de mais!
- Louca! Mas nós nunca vivemos de mais! Todos, quando morremos, vamos ainda demasiado ignorantes para poder deixar dito ou escrito que vivemos de mais. Vive-se sempre de menos... A Natureza só é pródiga, excessiva, para o que não pode ser destruído. Para nós é duma avareza mesquinha, que faz pagar bem caras as poucas migalhas que nos atira com desdenhosa complacência! Apesar de tudo, nós continuamos, e ainda há-de ver-se quem é que ganha a batalha...
Maria Leonor, que o ouvira com um sorriso triste e comovido, respondeu:
- Se formos nós, lá teremos de emigrar para os astros...
Viegas retorquiu, animando-se:
- E então? Admiras-te que, um dia, quando a Terra estiver esgotada de tudo, quando do solo já não sair mais que ossos e pedras, restos de gerações e civilizações, os outros, os futuros, deixem o cadáver inútil deste planeta para procurar novos lares no Infinito? Eu admito isto como possível e só lamento não participar nesse final de acto senão com uma costela esburgada, cravada no chão ao lado duma pedra do Parreiral!
Um meio sorriso entreabriu os lábios de Maria Leonor, que levantou para o médico o rosto enxuto, onde apenas os olhos brilhavam com uns restos de lágrimas:
- O doutor é imaginativo como um adolescente! Crê sinceramente no que acabou de dizer?
- Creio.
- Pois eu tenho ideias diferentes acerca disso a que chama final de acto. Penso que a humanidade futura não terá meios, nem possibilidades, nem forças, para fugir ao seu destino de vencida. E então, o final do acto será a Terra continuando a girar no espaço levando no dorso um carregamento de cadáveres até que o empresário se resolva a tirar a peça da cena.
Viegas encolheu os ombros, sorrindo. E lembrou:
- Podemos apostar!...
Ela franziu a testa, surpreendida com a proposta:
- É engraçado!... Mas apostar, como?
- Como? Ora, como!... Visto que, conforme todas as aparências, não será possível chegarmos ao momento que corresponda à realização, quer da minha quer da tua hipótese, transmitiremos a quem continue a viver depois de nós o encargo de cumprir a aposta ou de a transmitir, por sua vez, a quem o siga na escala. Combinado?
- Combinado!
- Eu escolho... quem há-de ser?!... escolho o João, o meu sobrinho!
- E eu, o Dionísio!
Levantaram-se sorridentes e apertaram-se as mãos, firmando a aposta risonha. Mas, de repente, Maria Leonor lembrou:
- Mas, ó doutor, o que é que nós apostámos?
Viegas coçou a cabeça, embaraçado:
- Ó diabo, que me esqueceu isso! Que há-de ser, então?
Maria Leonor pôs o livro em cima de um banquinho e disse:
- É melhor deixar a aposta sem objecto. Os últimos que decidam...
- É a melhor solução, de facto! Os últimos que decidam...
Houve um momento de silêncio, que Viegas interrompeu quando tirou o relógio da algibeira do colete:
- Dez horas! Bonito, sim senhora! E eu aqui a tagarelar e essa gente toda à minha espera... É a primeira vez que tal me sucede!
Com um gesto triste, Maria Leonor respondeu:
- Foi a primeira vez, de há quarenta e oito horas, que me esqueci de mim própria. E foi pena que me tivesse lembrado assim...
O médico baixou-se para apanhar os restos do cachimbo.
Quando se levantou, guardou-os numa algibeira e pegou na mão direita de Maria Leonor. Apertou-a com força, aconchegando-a toda entre os seus dedos grossos e fortes, e murmurou:
- Coragem, Maria Leonor! Precisas de muita coragem e é necessário que a consigas. Eu vou-me embora já, mas, se isto te pode servir de alguma coisa, fica pensando que estou a teu lado e que sou teu amigo!
Uma onda de gratidão trouxe lágrimas aos olhos dela, que só pôde balbuciar:
- Oh, doutor! ...
Saíram para o patamar e, ali, o médico despediu-se:
- Adeus, menina! Levanta-me essa cabeça, olha de frente, não tenhas medo de ninguém! - e mudando de tom: Se eu vir os garotos, posso dizer-lhes que te encontrei e que não te demoras?
- Pode.
Viegas desceu, quase a correr.
Quando chegou lá a baixo, acenou para Maria Leonor, que lhe respondeu, apoiada ao corrimão.
Depois de ele ter saído, ali se deixou ficar, absorta em funda meditação, com o rosto impassível, os olhos baixos, fitando os degraus. Ia descer, por fim, quando viu Benedita aparecer no rés-do-chão e começar a subir. A criada vinha devagar, a cabeça curvada, sem olhar para cima. Ao lado de Maria Leonor havia uma coluna de madeira torneada, onde repousava um grande vaso de louça com uma aspidistra cujas folhas erectas pareciam lanças. Um pensamento rápido lhe passou pela mente: era tão fácil empurrar o vaso, fazê-lo cair sobre a criada! Justamente naquele instante, Benedita subia os degraus por baixo dela. E vinha tão devagar, tão lenta, que parecia esperar a queda do vaso sobre a cabeça, um golpe tremendo, que lhe abriria o crânio como um melão maduro. Mas o vaso não caiu e Benedita continuou a subir. Estava agora diante da ama, num plano mais baixo, e parecia surpreendida por vê-la naquele lugar.
Maria Leonor fazia um esforço sobre-humano para não fugir e encarar a criada. Obrigou-se a ficar ali, agarrada ao corrimão, vendo o rosto de Benedita aproximar-se. E enquanto os ouvidos lhe zuniam e a cabeça vacilava, ainda encontrou forças para perguntar:
- Onde estão os meninos?
Benedita, que ia já adiante, voltou-se para responder:
- Foram para a quinta, depois do almoço. Perguntaram pela senhora, disse-lhes que estava com o senhor doutor Viegas e que não podia atendê-los. E a propósito, minha senhora, que veio cá ele fazer?
Maria Leonor exaltou-se, irreflectida:
- Que te importa isso? Que tens que ver com a minha vida? Quem é aqui dentro a senhora, tu ou eu?
O rosto de Benedita escureceu como se lhe tivesse passado por diante uma nuvem. As pálpebras bateram, rápidas, e juntaram-se numa frincha, por onde as pupilas espreitaram, fixas e duras.
- Nada tenho que ver com a vida da senhora, seja ela
qual for. E não pretendo, também, ser a dona da casa. A minha pergunta foi natural e não esperava que a senhora me falasse dessa maneira.
Pronunciou estas palavras sem que a voz se lhe alterasse. Dir-se-ia recitar uma lição. O seu olhar, fito no da ama, parecia traspassá-la de lado a lado e ir perder-se, indiferente, na parede fronteira.
Diante do olhar de Benedita, Maria Leonor sentiu-se transparente como cristal. Todos os sentimentos lhe afloravam na pele para que ela os considerasse e apreciasse.
Deu dois passos no patamar e sentou-se numa cadeira.
Benedita seguiu-a e ficou de pé, dominando-a com a sua alta figura. Maria Leonor esteve um momento silênciosa, e depois, tomando uma inspiração funda, perguntou:
- Afinal, que queres tu de mim?
Perante aquele ataque directo, Benedita recuou, surpreendida. Enquanto procurava uma resposta ou meio de escapar a ela, Maria Leonor voltou à carga, mais segura:
- Que intenções são as tuas? Não respondes?
O silêncio de Benedita continuava e Maria Leonor sentia que estava a ponto de ganhar a sua primeira batalha naquela luta que durava há dois dias. Com um sentimento de desafogo e de evasão, continuou:
- Eu sei o que posso esperar de ti, mas, se temos de ser inimigas até ao fim da vida, prefiro que o declaremos já! - levantou-se e pronunciou com força: - Eu odeio-te!
Benedita levou uma das mãos à boca para reprimir um grito. Os olhos abriram-se-lhe espantados, deixando brilhar duas lágrimas.
Murmurou baixinho, numa voz que tremia:
- Eu adorava-a, minha senhora!...
Logo voltou as costas e desceu as escadas, a correr.
Maria Leonor apertou a cabeça entre as mãos, estupefacta, ao passo que a segurança que a sua vitória lhe dera se esvaía e dispersava como fumo ao vento. E achou-se a repetir para si, estupidamente: «Eu adorava-a, minha senhora!».
Tudo se embaraçava cada vez mais e o que fora, primeiro, apenas um escândalo abafado, tornara-se agora numa guerra aberta e declarada entre as duas. E fora ela, a que mais precisava de esquecimento e de tolerância, quem derrubara o último muro. O seu golpe fora vibrado com a força do desespero, a matar, mas a resposta viera, certeira e bem mais contundente. Aquele «adorava-a» deixava a perder de vista o seu clássico «odeio-te». Sentia quão limitado fora o seu espírito ao sugerir-lhe aquela frase gasta e incolor, batida pelo uso constante das inimizades humanas.
A própria fuga de Benedita não representara uma cobardia, mas a benevolência de quem sabe, de quem pode, mas não quer fazer valer o seu conhecimento e o seu poder.
À tarde, estava Maria Leonor na sala de jantar, sentada perto da janela, bordando, enquanto os filhos, debruçados na comprida mesa, folheavam em silêncio um maço de revistas antigas, quando Benedita entrou trazendo numa salva o correio.
Maria Leonor levantou os olhos do bordado quando a criada parou junto de si e estendeu a mão distraída para as cartas e para os jornais. Espalhou-os no regaço e ia fazer um gesto a despedir Benedita, quando reparou no remetente de uma das cartas: António Ribeiro, Avenida dos Aliados, Porto.
Tremeu. Olhou para a criada tentando distinguir-lhe no rosto impenetrável qualquer expressão. Teria ela visto? Enquanto procurava tranquilizar-se com o pensamento de que a carta lhe teria passado despercebida, ia escondendo o sobrescrito debaixo dos jornais. Mas, de repente, pelo tacto, sentiu-o aberto a todo o comprimento. A carta fora aberta!
E, para escárnio supremo, a criada trouxera-lha assim, como se lhe gritasse que nada podia fazer, pensar ou sentir, sem que a sua atenção e a sua presença a vigiassem.
Maria Leonor agarrou o sobrescrito num repelão e, sem o olhar, rasgou-o em pedaços. Depois, encarando a criada de frente, depô-los na bandeja vazia. Benedita vacilou um momento, mas logo saiu, levando os restos da carta.
Assim que o reposteiro se imobilizou, Maria Leonor pôs-se de pé e dirigiu-se à mesa onde os filhos se entretinham ainda a ver as estampas coloridas das revistas.
Sentou-se no meio deles, tremendo, como se procurasse um refúgio. Quando colocou as mãos sobre os ombros das crianças e se debruçou com elas para as ilustrações, teve a sensação de um regresso a si própria, como se tivesse andado, até ali, por muito longe, fora dos caminhos onde se encontram as íntimas afeições. Olhando os dedos curiosos de Dionísio, que seguiam o contorno sinuoso de uma figura de elefante que suportava na tromba arqueada um grosso barrote, desejou poder ficar para sempre ali sentada, percebendo as respirações calmas dos filhos, descobrindo nos seus olhos claros e transparentes a pureza sem mácula das virgindades intangíveis e completas.
Demorava-se, assim, naquele sonho, com os olhos pregados na superfície luzente das páginas da revista, quando Dionísio, saltando da cadeira e indo encostar-se-lhe aos joelhos, perguntou:
- Mãezinha, quando eu for a Lisboa, vai também comigo?
- Vou, com certeza!
O pequeno insistiu, com o interesse de quem pretende ver resolvida uma dúvida importante, de que depende uma decisão grave:
- Mas fica lá?
- Ficar lá?! Não, isso não, Dionísio... Como queres que eu fique lá? Eu não posso levar a Quinta comigo! Ou posso?..
Dionísio entristeceu:
- Claro que não pode... E a Júlia também fica em casa?
- Evidentemente.
- Então eu fico sozinho, sem ninguém?
A mãe sorriu, carinhosa. Recostou-se no espaldar da cadeira e puxou os filhos para si. E enquanto enrolava nos dedos um dos caracóis louros de Júlia, que se lhe encostara ao ombro, foi dizendo para Dionísio, fitando-o bem nos olhos:
- Eu já devia ter-te falado nisto... Tu não ficas sozinho, Dionísio: vais ter um companheiro da tua idade para os teus estudos e para as tuas brincadeiras, serás bem tratado com certeza, tão bem ou melhor do que em casa, e, além disso, virás passar à Quinta todas as tuas férias... O Natal, as férias grandes, tudo, enfim...
O pequeno não se convenceu:
- Mas eu não posso ficar lá sem a mãezinha, sem a Júlia, sozinho!
- Não ficas sozinho, já te disse... Tens de acreditar que nem só eu e a Júlia somos teus amigos. Deves começar a ver outras pessoas, outras caras, deves, com os teus olhos, descobrir que o mundo não é só a Quinta Seca, nem o Parreiral, nem Miranda. E se queres ser alguém quando crescido, não podes continuar sempre dentro destas paredes...
Dionísio abanou a cabeça. Não se convencia da necessidade daquela separação e as palavras da mãe deixavam-no indiferente. E acabou por dizer:
- Assim, não quero ir!
Maria Leonor zangou-se:
- Ora essa! Não seja tolo, menino! Bem vê que não pode deixar de ir.
A boca de Dionísio tremeu. Por simpatia, Júlia, do outro lado, tinha já as lágrimas nos olhos. E era ela quem murmurava, enquanto o irmão se encolhia de encontro à beira da mesa:
- Ó mãe, não se zangue...
Reconsiderando, Maria Leonor chamou de novo o filho e, com entoações meigas na voz, acariciando-o, persuasiva, foi dizendo:
- Tu tens de compreender, Dionísio. Devemos trabalhar, a vida está feita assim, não podemos ter sempre onze anos...
Quando somos crianças, tudo vai bem, há quase sempre quem trabalhe para nós, mas, depois, não é possível viver sem o nosso próprio trabalho, sem o nosso esforço. Se formos ignorantes ou se soubermos pouco, achamo-nos em má posição em relação aos outros. Ora, tu não queres ser menos que os outros, não é verdade?
Dionísio abanou a cabeça com força e a mãe continuou:
- Ora aí está! Para que tal não suceda, é preciso estudar, aprender, trabalhar muito... E é para isso que vais estudar para Lisboa. Enquanto lá trabalhas e aprendes, eu aqui esforço-me também para que esta casa possa continuar a ser nossa. Compreendes?
A cabeça baixa, as mãos cruzadas atrás das costas, Dionísio ouvia aquela prelecção sobre as suas responsabilidades futuras. E ainda que não acreditasse em tudo o que a mãe dissera, respondeu:
- Compreendo, sim, mãezinha!
- Ora ainda bem... Então, quando acabarem as férias, iremos os três a Lisboa, valeu?
Júlia bateu palmas, radiosa, e Dionísio, embora com um sorriso descorado, também aplaudiu. A mãe levantou-se, abriu uma gaveta do guarda-louça, donde tirou uma toalha, que estendeu em cima da mesa.
- Vamos ao chá!
Voltou-se para o filho e acrescentou:
- Os estudantes não devem beber chá! Faz-lhes mal...
Mas uma vez...
Sabia que as crianças são sensíveis à lisonja como os adultos e aquela meia recusa era bem uma lisonja. Dionísio também o sentiu porque o sorriso alargou-se-lhe mais, numa precoce consciência da sua importância.
Pela sala ia quase uma azáfama de festa grande. Júlia, nos bicos dos pés, sobre uma cadeira, tentava retirar o açúcar da prateleira e Dionísio compunha as chávenas e os pires na toalha branca, que caía das abas da mesa em panejamentos fundos e largas pregas. Tudo estava pronto: faltava apenas o chá. Maria Leonor tocou a campainha. Esperou uns minutos e tocou de novo, com mais força. Por fim, apareceu Teresa, limpando as mãos molhadas ao avental.
- Onde está a Benedita?
A criada encolheu os ombros:
- Não sei, minha senhora. Saiu, mas não disse aonde ia...
- Ora essa! Mas quem deu à Benedita a liberdade de sair sem mais nem menos? Eu preciso de chá.
- Vou tratar, minha senhora. Mas da Benedita...
Maria Leonor interrompeu:
- Pronto, não se fala mais na Benedita! Vai fazer o chá.
A criada saiu a correr, desapertando as fitas do avental.
Maria Leonor sentou-se à mesa, nervosa, batendo com a colher na beira do pires. As crianças sentaram-se-lhe ao lado.
Após uns momentos de silêncio, Júlia inclinou-se para a mãe e aventurou:
- A mãezinha está zangada com a Benedita?
- Zangada? Por que dizes tu isso?
- Pareceu-me...
- Não sejas tonta! Por que havia eu de estar zangada com a Benedita?
No outro lado da mesa, Dionísio, que mastigava uma fatia de pão, interrompeu-se para dizer, com a boca cheia e os lábios luzidios de manteiga:
- Eu já não gosto dela!
Maria Leonor calou-se. E foi Júlia quem perguntou:
- Não gostas da Benedita, porquê?
- Ela disse mal do tio António... Ainda esta manhã...
Maria Leonor levantou a cabeça, inquieta:
- Que foi que ela disse esta manhã?
- Que lhe tinha rogado uma praga e que, se ela lhe caísse, o tio nunca mais teria uma hora feliz em toda a vida.
- Ela disse isso?
- Pois disse!
Voltando a cabeça para o lado, Maria Leonor reprimiu as lágrimas. Mexeu na chávena que tinha diante de si e só respirou, aliviada, quando viu Teresa entrar com o bule fumegante do chá. Antes que a criada chegasse à mesa, Dionísio, depois de uma breve hesitação, perguntou em voz baixa:
- Ó mãezinha, sempre é verdade que o tio António queria metade da Quinta?..
Maria Leonor olhou para o filho e respondeu, muito baixo:
É...
Teresa, chegando à mesa, pousou o bule e, quando se preparava para servir, Maria Leonor fez um gesto mandando-a retirar e foi ela quem encheu as chávenas. Em silêncio, os três beberam.
Daí a momentos, levantado o serviço, as crianças voltaram às suas revistas e Maria Leonor ao bordado. Desta vez, porém, não pegou na agulha. Com o pano sobre os joelhos, os olhos presos na paisagem dos montes negros do horizonte, pensava na teia emaranhada de mentiras em que a sua vida se ia tornando. E via que o seu futuro seria feio, destituído de sentido moral e de direcção definida. Teria de amoldar o seu comportamento, o seu espírito, à necessidade de manter de pé, a todo o custo, a aparência austera da sua existência, não deixar nunca que qualquer olhar desconfiado penetrasse no véu com que era obrigada a cobrir a sua vida íntima. Apenas dois dias tinham passado e já quatro pessoas sabiam o tremendo segredo: dentro em pouco quase o segredo de Polichinelo.
Imersa no seu cismar, não deu por que a tarde caía numa lentidão infinita. As crianças tinham abandonado na mesa as velhas ilustrações quando a luz começou a fugir da sala e, ouvindo fora o chiar de um carro que passava, saíram para a Quinta, à procura dos últimos raios de Sol que vinham do horizonte até aos telhados das casas. Maria Leonor ficou só com os seus pensamentos.
Súbito, ao lembrar a conversa da manhã com Viegas, ao recordar as palavras que lhe ouvira: «Trazemos sempre um fantasma agarrado a nós como a nossa própria sombra», pareceu-lhe ter perto de si uma presença estranha, sobrenatural. Sentiu como que uma mão potente e fria que lhe apertava o coração até o esvaziar de todo o sangue. Não ousava mover-se na cadeira, com as costas apertadas contra o espaldar duro e a cabeça latejando, congestionada. O que quer que fosse voltejava em torno dela, incansavelmente, amarrando-a com invisíveis fios, prendendo-a num abraço gelado. Um calafrio a percorria toda. As histórias da infância, as almas penadas das lendas tenebrosas, precipitaram-se-lhe no pensamento com um cachoar sinistro e lúgubre.
E então, diante da sua imaginação exaltada, ergueu-se inteiro e acusador, o fantasma do marido. Era o remorso. Era o deus das noites dos culpados que lhe surgia com os cabelos brancos tingidos de sangue e de fel, com a boca rasgada de orelha a orelha, por onde saíam ao mesmo tempo as súplicas, as pragas, os gritos, as maldições e o silêncio. Levantou-se apavorada e precipitou-se para fora. Tropeçou na cadeira, magoou-se de encontro a uma esquina da mesa, feriu-se no puxador metálico da porta. Todas as saliências, todos os móveis pareciam querer prendê-la, todos os objectos pareciam estender longos braços para a segurar.
E ela fugia a tudo como se fugisse da morte.
Subiu a escada a correr e foi fechar-se no quarto.
Com as mãos trémulas, mal atinando no que fazia, acendeu o candeeiro pousado sobre a mesa-de-cabeceira. Uma luz amarelada encheu o aposento até ao tecto. As colunas da cama projectaram-se na parede, imóveis, como as grades de uma janela de prisão. No silêncio que se fez, ouviu um ranger de insecto roendo a madeira, algures. Havia no quarto um leve cheiro a mofo, como se todos os móveis se estivessem decompondo lentamente, numa ruína silênciosa.
No cone de sombra que rodeava o candeeiro, sobre a mesa, estava um papel. Agarrou-o. Era um bilhete com umas garatujas canhestras e tortuosas. Aproximando-se da luz, leu:
«Fui a Miranda deitar uma carta para o Sr. Ribeiro.»
Nada mais. Todo o trágico da situação se dissipou rapidamente e só ficou para Maria Leonor o ridículo imenso daquelas palavras, escritas numa caligrafia desajeitada de aprendiz de primeiras letras.
Rasgou o bilhete e, com o gesto, a realidade retomou os seus direitos. Benedita recusava a guerra aberta, as palavras ditas no rosto, preferia a insinuação que nunca passasse disso, embora fosse de uma clareza transparente que dispensava disfarces. Lutar com ela era esgrimir no escuro.
Nunca sabia onde golpear e todas as estocadas varavam o vazio, o vácuo. Intangível como uma sombra, rodeava-a constantemente, manobrava-a como a um bonifrate de teatro de feira.
Tinha escurecido completamente quando Maria Leonor desceu ao rés-do-chão. Aproximava-se a hora de jantar. Quase todas as janelas estavam abertas para arejar a casa. O ar que vinha de fora circulava lentamente, entorpecido ainda do calor do dia, fazendo tremer as luzes acesas nas salas.
Maria Leonor assomou à porta. Numa réstia de luz que saía da casa do abegão, mais acima, vinham Dionísio e Júlia de mãos dadas. Entre os umbrais da porta, Leonor enternecia-se sentindo a impressão de extraordinária fragilidade que lhe dava a figura dos filhos, movendo-se sob o denso véu negro da noite. A blusa de Júlia parecia brilhar, fosforescendo na escuridão, e os passos de ambos, na areia da alameda, ressoavam num rangido intermitente, hesitante.
Chegaram, por fim, à porta, e vendo a mãe começaram logo a contar o que tinham ido ver a casa do Jerónimo: um morcego que o Sabino, o neto do abegão, tinha apanhado com uma cana.
- Ó mãe, o morcego tem focinho de rato! Eu vi!...
Mas Júlia entristecia à lembrança da pobre asa quebrada, uma asa vestida de pêlos fininhos, tão macia como penugem de pássaro, que pendia inerte tapando um dos lados do pobre morcego! E logo Dionísio gesticulava, gabando a pontaria do Sabino... O morcego voava em volta da cana erguida ao alto, e zás!, terra!... Ainda chiara, aflito, mas de nada valera: lá estava dependurado num prego por uma das patas, com a asa intacta aberta como numa despedida, os pequeninos dentes arreganhados entre a boca negra.
Enquanto os filhos disputavam, Maria Leonor dirigiu-se à sala de jantar. Lá estava Benedita, silênciosa e calma como sempre, um silêncio e uma calma exasperantes, que fizeram nascer em si o desejo de a sacudir pelos ombros, arrancá-la àquela impassibilidade. Sabendo embora que nada faria, deixou-se tomar com sensação que lhe trouxera o pensamento.
Em todo o seu aspecto devia transparecer um ar de coragem interior e de segurança tais que Benedita, ao vê-la, esboçou um ligeiro movimento de recuo. No seu olhar passou uma expressão de temor: naquele instante ressurgiu nela a criada submetida por longos anos de obediência. O poder que lhe dava a posse do segredo parecia esvair-se enquanto os passos de Maria Leonor, avançando na sala, faziam tremer os vidros nos móveis e o coração dentro do seu peito.
Quando a ama parou diante dela, separadas pela mesa, ambas tinham a consciência exacta da situação, mas enquanto Maria Leonor tentava manter-se a todo o custo no plano a que o acaso a içara, Benedita procurava vencer as velhas ideias do dever e do respeito que se lhe levantavam na alma. Ambas tinham a certeza de que, se Maria Leonor vencesse, ficaria livre do pesadelo.
Por momentos Benedita pareceu vacilar, houve como que uma renúncia à luta, uma abdicação na expressão cansada do seu rosto. Dentro do peito de Maria Leonor já badalavam Páscoas! Mas, de súbito, sem motivo, achou-se a pensar na asa quebrada do morcego, e na outra, na intacta, aberta como um adeus.
E sentou-se, vencida.
O jantar estava perto do fim quando Benedita, que saíra para ir buscar o café, assomou à porta, anunciando:
- Minha senhora, o senhor padre Cristiano!
Maria Leonor levantou-se logo para o receber e as crianças saltaram das cadeiras e correram para o velho. Beijaram-no e voltaram trazendo-o pelas mãos. Atrás vinha Benedita com a cafeteira. O padre sentou-se num sofá, soltando um fundo suspiro de cansaço e alívio. Passou o lenço pela testa e, depois de enxugar os lábios húmidos, murmurou:
- Que cansado, meu Deus!...
Em Maria Leonor foi uma curiosidade. O que o trouxera ali, àquela hora, sem uma companhia, sem ter avisado sequer?! E logo o padre acudiu:
- Eu já devia ter vindo... Mas tenho estado um bocadinho doente, não saio de casa desde domingo...
- Doente? Mas, então, esteve mal? Por que não mandou recado?
E Maria Leonor inclinava-se para o velho e passava-lhe o lenço pela testa húmida. As crianças tinham-se sentado no chão e escutavam. Apenas Benedita dava a volta à mesa, deitando o café nas chávenas. O padre, depois de hesitar olhando os pequenos, perguntou:
- Então, Leonor, que foi isso com o António? Eu nem quis acreditar...
A expressão carinhosa do rosto de Maria Leonor desapareceu e a mão que segurava o lenço caiu desfalecida.
Os seus olhos perderam-se no sobrado e, quando os levantou para o padre, tinham lágrimas. Havia neles uma súplica desesperada, um pedido de clemência. E não respondeu. Houve um silêncio incómodo na sala. O padre abanou a cabeça com tristeza e juntou:
- Quem suporia? Ainda quando ele esteve em minha casa, no domingo, achei-o tão bom, tão sossegado... E logo uma destas...
O mesmo silêncio. Enquanto o padre falava, Benedita chamava as crianças para a mesa, a fim de tomarem o café.
E agora, junto delas, estendia-lhes o açucareiro, solícita, quase meiga. O padre continuava:
- Olha que eu, às vezes, ainda me pergunto se não estarei enganado. Como foi possível que o António viesse de tão longe até aqui, com a intenção premeditada de te exigir...
Maria Leonor, de braços cruzados sobre o seio, encostada à mesa, baixava a cabeça. Por fim, suspirou e respondeu, enquanto lançava um olhar rápido para a criada:
- Que hei-de fazer, padre Cristiano? Nem eu esperava...
Havia um cinismo inocente nas suas palavras. Sentia um certo prazer amargo, fazendo aquelas alusões veladas, que só podiam ser compreendidas por Benedita. Falar assim era combatê-la com as suas próprias armas, meter-se-lhe no terreno, jogar com as suas cartas. A situação era nova e Benedita bem o sentiu, porque deitou um olhar inquieto para a ama. Como se se defendesse, meteu-se na conversa, falando para o padre:
- É assim, é assim, senhor padre Cristiano! Donde menos se espera, salta a lebre...
E, imediatamente, Maria Leonor, corajosa:
- Foi uma vergonha para todos nós!
Aqui, Benedita perdeu o fôlego e recuou outra vez para a mesa, corando. Maria Leonor aprumava-se diante do velho, sentindo a indignidade daquela vitória. O padre ouvira, contristado, as duas mulheres.
Havia em todo o seu velho rosto um ar de santidade que se repugna ouvindo os males do mundo e Maria Leonor, encarando-o, considerava-se um poço de perversidade e de ignomínia. Embotara-se-lhe de tal modo o respeito por si própria, que era já capaz de falar da sua vergonha diante de quem a conhecia. E, coisa irrisória, não fora ela, a culpada, quem se humilhara, fora Benedita. Quem sabe? Talvez fosse essa uma maneira de mantê-la segura e calada!
Caída na sua abstracção, esqueceu o lugar onde se encontrava e as pessoas que a acompanhavam. No sofá, o padre, com as mãos cruzadas por cima dos joelhos, os polegares fazendo ponte e beliscando o lábio inferior, considerava mentalmente o gesto de António.
Nas paredes da sala, duas naturezas-mortas litografadas, representando lagostas vermelhas de mistura com maçãs e uvas, debruçavam-se para o chão, suspensas dos pregos.
O velho relógio inglês agitava sem descanso o disco faiscante do pêndulo, combinando o movimento com o som. Júlia e Dionísio bebiam o café em pequenos sorvos, soltando de vez em quando uma aspiração mais ruidosa.
Foi Benedita quem interrompeu o silêncio, ao fazer notar que o café da senhora arrefecia. E Maria Leonor, regressada aos seus deveres, inquiriu:
- O senhor padre já jantou?
- Já sim, minha filha. Jantei antes de vir...
- Bem, então bebe uma chávena de café connosco...
O padre Cristiano levantou-se do sofá e anuiu:
- Pois sim, com prazer!
Maria Leonor voltou-se para a criada e mandou:
- Benedita, põe mais uma chávena!
Enquanto Benedita retirava do guarda-louça o necessário, o padre sentou-se à mesa, ao lado de Dionísio. Fez-lhe uma carícia nos cabelos, ao mesmo tempo que vigiava na chávena a altura do café que a criada lhe ia deitando.
- Pronto, Benedita, não deites mais!...
Maria Leonor, que se sentara também, chegou-lhe o açucareiro. O padre, com duas colheres bem cheias, deu-se por satisfeito, e enquanto remexia o açúcar no fundo da chávena perguntou, interessado:
- Então, já está resolvido o caso do Dionísio?
Maria Leonor deu uma leve pancada na testa.
- Oh, que disparate o meu! Desculpe-me! Não me lembrava sequer de contar-lhe...
- Serviu-se do açúcar e continuou, noutro tom.
- Pois está! No... no domingo, o doutor veio dar-me a resposta. Está tudo combinado e o Dionísio partirá para Lisboa em Outubro.
- Estás, então, contente, não é verdade?
- Estou, de facto. Há, apenas, um ponto que me desagrada um pouco...
O padre sorriu.
- O quê? São ainda os mesmos receios quanto à questão religiosa?
- Questão religiosa?! Ah, não! É tudo quanto há de mais material. Trata-se de dinheiro.
- Porquê? O irmão do doutor pede muito?
- Não, e antes fosse isso. Não quer aceitar dinheiro. Diz que lhe basta o prazer de considerar o Dionísio como um irmão do filho, o irmão que lhe não deu, conforme as suas próprias palavras... Que hei-de fazer?
O padre encolheu os ombros. Soprou dentro da chávena, bebeu um gole de café e respondeu:
- Hum! Que hás-de fazer senão agradecer?!
- Podia não aceitar!
O velho abanou a cabeça, reprovador, e respondeu:
- Seria mal feito. Vivemos neste mundo para fazer concessões e sacrifícios mútuos. O teu caso resume-se numa questão de amor-próprio: pois que se sacrifique o amor-próprio e o Dionísio que vá para Lisboa ser um homem!
Dionísio passeava o olhar da mãe para o padre. E sentia-se vagamente ofendido, vendo a extraordinária facilidade com que se dispunha da sua pessoa, conduzindo-a para aqui e para ali, sem a ouvir. Não tinha o mais pequeno desejo de sair da Quinta e iria porque a mãe assim o mandava, mas, se o contrário se desse, também seria obrigado a obedecer.
Sobretudo, irritava-o aquele «ser um homem»!
Entretanto a conversa continuava e o padre Cristiano, de súbito, interrompendo-se a meio de uma frase, exclamou:
- Espera, tive uma ideia!
Maria Leonor alargou os olhos, curiosa. E o padre prosseguiu:
- Uma ideia que creio não ser despropositada de todo e que deve permitir que faças as pazes com o teu amor-próprio... Por que não convidas o sobrinho do doutor a vir passar aqui as férias?
Não era só a reconciliação com o seu amor-próprio, era também a perspectiva de que a entrada de uma pessoa estranha no círculo vicioso dos habitantes da casa lhe trouxesse uma distracção das suas preocupações, dos seus receios intermináveis. Todos teriam que adaptar-se ao visitante, esquecer por dias as questões antigas. Maria Leonor entusiasmava-se.
Porém, ao lado, Dionísio não estava satisfeito. Encolhera-se involuntariamente na cadeira ao ouvir o padre e, enquanto a irmã acolhia com júbilo a ideia, baixara a cabeça, amuado. A sua natureza de tímido não suportava relações novas, e muito menos com pessoas da sua idade. Preferia a convivência da maturidade, como se ele próprio não fosse mais criança. Aquele convite era uma violência...
Mas o pior estava ainda para vir. E isso foi quando o padre, depois de beber o resto adocicado do café que restava na chávena, continuou:
- Bom. Ainda bem que concordaste. Mas olha que me lembrei doutra coisa!
O padre estava fértil em ideias e Maria Leonor, sorridente, acenava já, concordando, ainda sem o ouvir.
- Que o convite seja feito pelo Dionísio!
Todos se voltaram para o pequeno. Muito corado e fitando com obstinação a toalha, Dionísio não disse palavra. Vendo, porém, que todos aguardavam uma resposta, levantou os olhos e fitou sucessivamente os circunstantes.
O padre, a mãe e a irmã mostravam-lhe os rostos satisfeitos, demasiado satisfeitos para o seu desejo, e apenas em Benedita viu o que lhe pareceu uma pontinha de solidariedade e compreensão.
Apoiou-se àquele auxílio e respondeu, enfim, numa voz sumida e um nadinha trémula:
- Eu não o conheço...
Era razoável! E Dionísio respirou aliviado quando, depois de demorada ponderação, ficou resolvido que o convite fosse feito, de facto, por ele, mas por intermédio do doutor Viegas.
Daí a pouco levantaram-se, arrastando as cadeiras num debandar, e enquanto Benedita saía levando as chávenas, o padre, depois de olhar o relógio, disse:
- Nove horas! Vou-me chegando até casa, que este corpo já não aguenta grandes serões...
Maria Leonor levantou-se e, aproximando-se da janela, perguntou:
- O padre Cristiano veio a pé?
- Não, filha, tanto já não posso! Vim na minha carrocita.
Não está à porta?
Maria Leonor debruçou-se mais:
- Não, não está! Devem tê-la retirado - voltou para dentro e acrescentou: - Vou mandar um criado consigo.
- Para quê? Não vale a pena. A égua não toma o freio nos dentes. Bem feitas as contas, parece-me que deve ter tantos anos como eu...
Maria Leonor sorriu:
- Mesmo assim... Vamos, meninos, despeçam-se do senhor prior!
As crianças acercaram-se e beijaram o velho. A despedida de Dionísio foi muito seca e muito fria: os lábios mal afloraram a face enrugada do padre. Havia na sua alma um ressentimento fundo pela ideia do convite.
Daí a pouco ouviu-se fora o rodar abafado da carroça.
E o padre, depois das últimas despedidas, partiu.
Voltaram à sala de jantar. Sobre a mesa, donde Benedita retirara já os talheres e a toalha, abria-se, num perfume suave e enlanguescedor, um grande ramo de rosas-chá.
Da profundidade amarelada, subia a fina subtilidade do aroma, e as flores, como que entontecidas, dobravam as corolas para o tampo da mesa, escuro e polido, num desfalecimento murcho.
Maria Leonor sentou-se numa cadeirinha baixa com o seu bordado. Inclinou-se para o desenho e com as linhas coloridas foi fazendo nascer na brancura do pano as manchas e os contornos duma ave do paraíso. Dionísio fora sentar-se longe das janelas, ao lado do relógio, balançando as pernas, aborrecido. E Júlia, que ao princípio tentara brincadeira com o irmão, desistira ao vê-lo tão sisudo e viera sentar-se no chão, junto da mãe.
Em certa altura, Maria Leonor levantou a vista do trabalho e olhou para o filho. Ia
falar-lhe da visita do sobrinho do médico, mas vendo-o calado e pensativo, compreendeu o que se lhe passava no íntimo e calou-se. Não podia censurá-lo pela cobardia que demonstrava com aquele pavor ao desconhecido. Apenas entristecia sentindo o filho assim fraco e solitário. Naquela sensibilidade de criança existia um ponto rígido mas quebradiço como uma peça de metal fundido: não haveria muito a esperar no dia em que um choque mais forte da vida o ferisse ali.
Uma pergunta de Júlia, acerca do bordado, distraiu-a dos seus pensamentos. Dionísio, no seu canto, bocejou, ensonado. Debruçou-se e espreitou as horas no relógio, que abria os ponteiros como dois longos braços doirados. Esfregou os olhos com as costas das mãos e declarou que ia deitar-se.
Era uma espécie de fuga, uma procura de esquecimento no sono das preocupações que o ralavam. E depois de beijar a mãe e a irmã, lá foi a caminho da cama. Na escada encontrou Benedita, que, ao saber que ele ia deitar-se, subiu também. Entraram no quarto e a criada abriu a cama. Saiu enquanto Dionísio se despia, mas voltou daí a minutos, quando ele enfiava o pijama nocturno. Dionísio, depois de um rápido sinal da cruz, meteu-se entre os lençóis, arrepiado apesar do calor que ainda fazia.
Benedita aproximou-se do leito e, ao passo que lhe aconchegava as cobertas junto do pescoço, perguntou:
- Ouça cá, menino Dionísio, que idade tem o sobrinho do doutor Viegas?
No dia seguinte, logo de manhã, Maria Leonor mandou um criado ao Parreiral com recado para o doutor Viegas, para que fosse à Quinta assim que pudesse. O rapaz escarranchou-se no lombo de uma burra ruça e largou num trote rasgado para casa do médico.
Viegas assistia na cavalariça ao selar da égua em que ia iniciar o seu giro pelos casais afastados de Miranda, quando ouviu fora, nas lajes do pátio, um estropear de ferraduras. Espreitou pelo postigo da cavalariça e viu o criado de Maria Leonor saltar do animal, que abria as ventas num saudar ruidoso pondo em sobressalto as galinhas que esgaravatavam entre as pedras.
O médico gritou:
- Vê lá se fazes calar esse diabo! - espreitou as pernas da burra e acrescentou, sorrindo: - Esse diabo ou essa diaba.
O rapaz indignou-se com o animal e, com duas chibatadas nas orelhas, fê-lo calar, vencido. Depois acercou-se do médico, que o esperava debruçado do postigo, e rapando o barrete da cabeça foi dizendo:
- A senhora manda dizer que vá lá, assim que puder!
- Que há? Temos doença?
A boca do criado abriu-se num sorriso, que lhe mostrou duas fieiras de dentes tortos e estragados. E contente por poder dar boas notícias, respondeu:
- Não, senhor! Não está ninguém doente! Acho que é a senhora que lhe quer falar...
O médico consultou o relógio, olhou para o Sol, e voltando-se para dentro da cavalariça, donde vinha um cheiro forte de suor e excremento de gado, perguntou:
- A égua está pronta, Tomé?
Uma voz respondeu, num arfar esforçado:
- Não tarda, senhor doutor...
Viegas saiu, abotoando o casaco. Olhou para o criado, que esperava, e inquiriu:
- Que fizeste tu das botas que te dei?
O rapaz coçou a cabeça:
- Deixei-as em casa, senhor doutor...
- Ah, sim?! Então hás-de vir para mim com outra infecção num pé... Desta vez não to curo, corto-to!
Embaraçado, o rapaz dava voltas nervosas ao barrete.
Olhou angustiadamente para os pés, como se já visse o serrote a entrar-lhe na pele, e respondeu:
- Não vê, senhor doutor?!... Eu queria poupar as botas.
Meti-as na arca e ainda lá estão - fez um esforço e acrescentou, corando: - Queria guardá-las para o casamento!
O médico riu:
- Ah, sim, para o casamento! Mas o que preferes tu:
casar com botas e sem pés ou casar com pés e sem botas?
No olhar do rapaz brilhou um fulgor de esperteza. E riu, ao responder:
- Eu queria casar com botas e com pés...
Nesse momento, o criado de Viegas saía trazendo a égua pela arreata. O médico enfiou o pé esquerdo no estribo e cavalgou o animal. E, enquanto compunha as rédeas e as crinas da montada, respondeu:
- Bom!... Calça lá as botas, que eu depois dou-te outras para o casamento!
Tocou as ilhargas da égua com as esporas e saiu para o pátio. O criado montou a burra de um salto e seguiu o médico pelo caminho dos marmeleiros. Fustigou com os calcanhares a barriga do animal até o obrigar a correr ao lado da égua e, com a voz sacudida pelos solavancos da carreira, agradeceu as botas.
O médico, porém, não o ouvia. Ia procurando o motivo que obrigara àquela chamada matinal. Se não era doença, tratava-se, com certeza, da história... Na noite anterior, pela primeira vez em muitos anos, dormira mal, apesar de fatigado. E quando acordara, ainda a manhã vinha em Espanha, perguntara a si próprio, na semi-escuridão do quarto, se não fora tudo um pesadelo idiota, tão absurdo lhe parecia o que se passara na tarde de domingo, na Quinta. Por fim, conformou-se: a coisa sucedera, não havia dúvida, e agora, nem que o mundo começasse a girar ao contrário seria possível apanhar aquele domingo de modo a ocupar-lhe a tarde de outra maneira.
Sem dar por tal, picou o ventre da égua e passou do trote a um galope curto, deixando para trás o criado, esbaforido em cima da burra, que espetava as orelhas para a frente na ânsia de não se despegar dos quartos traseiros da montada do médico. Acabou por ficar para trás na primeira curva do caminho, enquanto Viegas desaparecia numa nuvem de poeira, direito ao rio.
Daí a pouco o médico entrava na Quinta. E quando se apeou à porta, viu, debaixo da alpendrada, Teresa e João, que conversavam. Resmungou:
- Vocês dão bom lucro à casa, lá isso... Sempre no namoro!
Teresa corou e desapareceu. O rapaz sorriu:
- Era só conversar, senhor doutor!
- Qual conversar! Isso é perder tempo. Tratem de casar e deixem-se de paleio. Têm o resto da vida, depois, para a conversa... Arrecada-me aí essa bichinha!
João deitou as mãos às rédeas e levou a égua. Viegas entrou em casa e parou no meio da sala, ao lobrigar uma saia escura que desaparecia por detrás duma porta. Em três passadas largas seguiu-a, a tempo de ver Benedita, que entrava na cozinha. Encolheu os ombros e voltou atrás. Enquanto subia a escada, chamou:
- Maria Leonor!
Um ruído de passos no patamar e Maria Leonor apareceu. Vinha satisfeita, risonha, compondo as fitas de um avental na cintura. Sorriu para o visitante, saudando:
- Bom dia, doutor! Desculpe o incómodo, mas precisava de falar-lhe!
Viegas acabou de subir os últimos degraus e parou diante dela, um pouco surpreendido:
- Venho encontrar-te hoje muito bem-disposta. Que se passa?
- Oh, não se passa nada! Acordei contente, não sei porquê, embora o contrário fosse mais natural, não é verdade?!
- Sim, realmente... Mas, o que queres, afinal?
- Falar-lhe, já lho disse. E fazer-lhe um pedido. Vamos.
Entraram no corredor que levava ao quarto e ao escritório. Ao chegar aqui, Maria Leonor hesitou uns segundos, mas logo abriu a porta, decidida.
- Sente-se, doutor.
O médico deixou-se cair num cadeirão de balanço, forrado de couro preto, coberto com um pano vermelho, bordado, e tirou o cachimbo, que encheu de tabaco e acendeu. Aspirou duas vezes, deliciado, e disse, olhando o fomilho que chispava:
- A Benedita...
Maria Leonor encolheu os ombros.
- Lá anda...
- Sempre na mesma?
- Sempre na mesma.
Viegas deu um impulso com as pernas e balançou a cadeira. Soprou mais uma fumaça e acrescentou:
- Parece que a Benedita se transformou na guardiã da moralidade da casa.
Maria Leonor corou intensamente. Aquela maneira de falar...
- Porquê?
- Apanhei-a a espreitar a Teresa e o João, que namoravam à porta.
Um sorriso entreabriu a boca de Maria Leonor. Deu volta à secretária para se sentar e murmurou:
- Já é demasiado tarde...
Viegas apanhou o cachimbo, que lhe caía da boca, sujando-lhe o fato de cinza.
Sacudiu-se e perguntou, enquanto o entalava outra vez nos dentes:
- Tarde, porquê? Também houve alguma coisa?
Aquele também saíra-lhe dos lábios involuntariamente.
Espreitou o rosto de Maria Leonor e viu-a empalidecer, enquanto as mãos, que se apoiavam no tampo da secretária, se crispavam, doloridas. Repetiu a pergunta:
- Houve alguma coisa?
Maria Leonor sorriu, compreendendo a delicadeza, e respondeu:
- Creio que sim...
O médico, aborrecido, levantou-se e foi até à janela. Deu uma olhadela distraída pela Quinta, e, voltando para dentro, despejou o resto do tabaco num cinzeiro de loiça onde brilhavam as quinas e os castelos do escudo de D. João V.
- Afinal, que me querias tu?
Com um suspiro, Maria Leonor respondeu, enquanto brincava com uma faca de cortar papel, batendo-lhe com a lâmina no tinteiro:
- Queria pedir-lhe que convidasse o seu sobrinho João a vir passar o resto das férias connosco. Isto em nome do Dionísio...
- Quem teve a ideia?
- O padre Cristiano.
- Vá lá! Não é nada má, não senhora! E o Dionísio, o que diz?
- Nada! Que havia de dizer?
- Ora! Podia não gostar. Isto de crianças, quem puder que as entenda...
Tirou da algibeira a caneta e acrescentou:
- Bom, nesse caso, vamos à escrita!
Maria Leonor levantou-se e deu-lhe o lugar. O médico sentou-se à secretária, puxou uma folha de papel, sacudiu a caneta e, depois de olhar para o tecto, começou a escrever.
Ia já a meio da página quando, de repente, levantou a cabeça e olhou para Maria Leonor.
- Que estás tu a ver no tapete?
Ela deu um pequeno grito e levou a mão ao coração, sobressaltada. Estava pálida e trémula e, perante a face perplexa do médico, só pôde responder:
- Nada, nada...
Viegas olhou desconfiado e voltou à carta. Daí a momentos, traçou a assinatura no fundo da página, enxugou as linhas que escrevera e, depois de um relance de olhos, estendeu-a a Maria Leonor, dizendo:
- Vê se achas bem.
Ela passeou o olhar pela carta, mal vendo o que estava escrito, e devolveu-a.
- Está bem, decerto...
- Decerto? Naturalmente, não gostas do estilo. Pois, minha rica, num médico de aldeia é do melhor que se pode encontrar!
Dobrou a carta e guardou-a no bolso interior do casaco.
Bateu duas vezes no peito, como para certificar-se de que a carteira continuava no mesmo lugar, e recostou-se.
- Sinto que me estou tornando preguiçoso. Nesta casa respira-se indolência... Se aqui vivesse continuamente, acabaria os meus dias de papo para o ar, gozando a vista do tecto, ou de pernas cruzadas sobre uma esteira, de olhos baixos, a contemplar as belezas do meu umbigo.
Maria Leonor sorriu.
- Aqui respira-se mais que preguiça, doutor. Respira-se entre estas paredes um ar de tragédia grega. Anda por estas salas, oculta nas sombras dos desvãos e nas pregas dos reposteiros...
O médico interrompeu, sem cerimónia, resmungando:
- Fantasias!...
- É possível! - respondeu Maria Leonor. - Mas a verdade é que eu sinto no ar que respiro uma viscosidade estranha, como se nele andasse dissolvida uma presença material. Se quisesse fazer literatura, diria que anda por aqui a Fatalidade, a mesma que cegou Édipo e o fez esposo da própria mãe. Desloco-me pela casa como por entre um nevoeiro espesso e frio, que me traz arrepios. Os móveis são grandes sombras esfumadas, os passos repercutem-se pela casa, secos e indeterminados...
Viegas repetiu, enquanto se levantava e dirigia à janela:
- Fantasias, menina, fantasias!... Por que não hás-de tu ser uma mulher sensata, fria como o teu nevoeiro, sem esses delírios de imaginação?!
Voltou-se para ela, de mãos nas algibeiras, as pernas levemente afastadas, um ligeiro sorriso de ironia nos lábios.
- Começo a acreditar que tens pouco que fazer. Ou melhor, talvez: que pouco fazes, tendo muito que trabalhar - deu dois passos indiferentes e sem destino e continuou, lançando as palavras ao acaso, com displicência: - Nem doutro modo se explica o abandono em que a Quinta começa a estar... Outros olhos, que não andassem cegos por esse nevoeiro imaginário, já teriam visto os caminhos cheios de erva, o muro da horta meio esboroado, a dar passagem livre aos carneiros dos vizinhos; outros ouvidos, que não dessem atenção aos passos dos criados, já teriam percebido o ranger dos gonzos do portão, que não levam azeite há semanas...
Maria Leonor levantou-se de golpe, pronta a responder, mas o médico, com um gesto da mão, deteve-a:
- Quietinha, quietinha!... Pensa bem antes de responderes! - e após um momento de silêncio, em que suportou o olhar zangado de Maria Leonor: - Bom, agora responde...
Ela teve um gesto mal-humorado e respondeu:
- Não tenho nada que dizer!
- Hum! É pena. Teríamos aqui, talvez, mais uma conversa interessante. Paciência! Desde que me falta o parceiro, conformo-me...
Maria Leonor bateu com o tacão do sapato no sobrado e, dando às palavras uma entonação sarcástica, respondeu:
- É admirável! O doutor nunca teve problemas?
Viegas deu uma risada que lhe fez tremer os óculos. Depois serenou. Os olhos tiveram ainda um clarão risonho, mas logo se amorteceram por detrás das lentes grossas. Houve um silêncio. E o sorriso voltou-lhe aos lábios quando respondeu:
- Ora aí está uma pergunta infantil, que não é senão consequência do tal nevoeiro em que te embrulhaste e em que me andas a querer embrulhar a mim!... - deu um suspiro e continuou: - Pois eu também tenho os meus problemas... Ou, para melhor dizer: tive. E, para te falar francamente, foram mesmo várias séries deles. Por exemplo: aí dos sete aos doze anos o problema que mais me atormentou o espírito foi a procura da maneira legítima de conciliar a obrigação de ir à escola com a minha paixão pelo pião; dos dez aos quinze, andei às voltas com outro problema: disfarçar o maldito cheiro do tabaco que fumava, para que a minha mãe não me desse um par de açoites, que era, aliás, o que merecia, não por fumar, mas por usar um tabaco tão ordinário; dos quinze aos vinte, e isto vai em séries de cinco anos para não cansar, não te digo nada, então!..., foi um chorrilho de problemas, desde a primeira criada de servir que namorei até ao primeiro silogismo, desde a primeira dúvida acerca da Divindade até ao primeiro calote a um amigo, desde a primeira bebedeira ao... enfim, um nunca mais acabar; dos vinte aos vinte e cinco, a coisa acalmou-se mais e, então, se bem me recordo, os problemas mais importantes que me apoquentaram foram...
Aqui, Maria Leonor, exasperada, já não pôde mais. E explodiu:
- O doutor é uma pessoa muito espirituosa, mas eu não posso suportar semelhantes brincadeiras! Pensei que a sua sensibilidade compreenderia, como deve ter compreendido a sua inteligência, a minha situação, os pavores de que a minha vida está cheia, esta inenarrável angústia em que me debato. Os meus nervos doem-me, não vivo senão para esta obsessão, e o doutor graceja...
Viegas segurou Maria Leonor pelos braços e, mantendo-a direita diante de si, deu-lhe um safanão nos ombros, para a obrigar a olhá-lo. E depois de a ter assim imobilizado, respondeu, numa voz donde desaparecera todo o sabor risonho:
- Tens razão, estive a gracejar. Mas ainda não acabei, falta o último gracejo. Aos vinte e sete anos formei-me. Era médico, enfim, realizara o meu ideal mais alto, o meu sonho mais belo, mas foi justamente nesse momento que apareceu o tal último problema: o espectáculo das vidas que definham, das febres que devoram, dos males que desfiguram, das lágrimas e dos gritos dos que não querem morrer.
O espectáculo da grande vida que acaba miseravelmente num suspiro, depois de se ter enchido de alegrias e de tristeza, de triunfos e de desastres!
Falara com uma violência tremenda, como se cada palavra fosse uma pedra lançada no espaço, veloz e agressiva.
Maria Leonor tinha lágrimas nos olhos, como se tivesse visto desfilar diante de si, num instante, toda a história do sofrimento humano.
O médico, depois de a olhar com atenção, acrescentou:
- Desde então, os problemas restantes têm sempre um interesse muito restrito para mim.
Calou-se. Ficaram, assim, por largos segundos, até que no rosto de Viegas se espalhou uma expressão de constrangimento e embaraço. Deixou Maria Leonor e foi sentar-se, mal-disposto. Cruzou as pernas e enfiou o queixo entre as abas do casaco.
Daí a pouco, Maria Leonor foi até ele, pôs-lhe uma das mãos no ombro e disse, de mansinho:
- Façamos as pazes, sim?
Viegas resmungou uma concordância. E ela foi continuando:
- O doutor, então, deita hoje a carta no correio, não é verdade?
Ele levantou a cabeça: a má disposição desaparecera. Deu duas palmadinhas afectuosas na mão de Maria Leonor e respondeu:
- Deito, evidentemente! A carta deverá chegar amanhã, que é terça-feira. Preparativos para a viagem, tachas nas botas do João, recomendações da mãe para que não parta a cabeça ao subir às árvores, e temo-lo cá quinta ou sexta-feira!
- Óptimo! E eu prometo-lhe que, para a chegada do seu sobrinho, os gonzos do portão estarão bem azeitados, as ervas da alameda arrancadas, o muro da horta posto de pé e os carneiros do lado de fora.
Viegas levantou-se e foi buscar o chapéu. Deu-lhe dois piparotes a sacudir o pó e disse:
- É interessante! De todos os meus doentes, és o que mais vezes tem recaído, e só eu sei o trabalho que tenho, de cada vez que isso acontece, para te pôr novamente em pé.
Vives de entusiasmos súbitos e de depressões prolongadas, e eu, que tão pouco jeito tenho para escalar montanhas, sou obrigado a acompanhar-te nesses altos e baixos.
Maria Leonor enfiou o braço no dele e, enquanto caminhavam para o corredor, respondeu:
- É verdade. E Deus sabe quanto lhe estou grata. Sem si e sem a sua admirável concepção da vida, já teria feito nem sei o quê!... Se não fosse a sua presença constante, se não fossem as suas palavras... Nem quero pensar nisto, doutor! Faz-me mal!
Pararam no patamar. Viegas desceu um degrau e voltou-se para despedir-se. Ela apertou-lhe a mão com força e murmurou.
- Agora, o doutor vai-se embora. Voltará logo, ou amanhã, ou depois. Eu ficarei aqui, sozinha dentro deste casarão, até que volte. Até lá, serão os terrores, os anseios miseráveis, os meus companheiros de sempre! Quando voltar, tudo desaparecerá!
- Tanta falta te faço?
- Sim, doutor, faz-me muita falta!...
A mão de Viegas apertou com mais força a de Maria Leonor e a sua boca, irreprimivelmente, pronunciou as palavras fatais e irremediáveis:
- Maria Leonor, queres tu casar comigo?
Dos lábios dela saiu um gemido. A casa pareceu tremer-lhe debaixo dos pés e as paredes como que vacilaram nos alicerces. Diante de si, a cara do médico, pálida, os olhos brilhando por detrás dos óculos e das lágrimas. Levou as mãos ao rosto, que se lhe incendiava.
Quando as retirou, olhou para Viegas, tremendo. E, de súbito, viu-o voltar as costas e fugir, escada abaixo, como só se foge do ridículo e da morte. Os passos amorteceram na alcatifa da entrada. A porta que dava para fora estrondeou.
Àquele ruído, Maria Leonor pareceu acordar. A boca abriu-se-lhe para gritar, mas ficou muda, petrificada. Levou as mãos à garganta dolorida e encostou-se ao corrimão, a soluçar perdidamente.
Durante os dias que precederam a notícia da chegada de João, o médico não voltou à Quinta. Levantava-se cedo, mais cedo ainda que o costume, mal as estrelas começavam a desaparecer no céu, e descia à cavalariça para aparelhar a égua. Montava. E logo rompia num galope rasgado até ao rio, na meia luz fresca do amanhecer, passando com o animal por baixo dos ramos dos salgueiros, húmidos do orvalho da noite. Quando a égua metia as patas dianteiras na água e baixava o longo pescoço para beber, Viegas inclinava-se para diante, cruzando os braços sobre o selim.
E enquanto o animal matava a sede, ficava a olhar a corrente do rio, mansa e vagarosa, abrindo aqui e ali um pequeno redemoinho nos sítios profundos, onde rodopiavam as folhas e os gravetos que caíam das árvores. Depois, a égua levantava a cabeça, já satisfeita, com um último fio de água a escorrer-lhe da boca, e atravessava o rio, rasgando uma esteira de espuma branca, logo turvada pelo lodo que subia do fundo.
Subida a margem, Viegas deixava o animal caminhar a passo e ia andando de porta em porta, de casal em casal, ora perto ora longe, até que o Sol, trepando céu acima, entrava de verter sobre o campo línguas de fogo vivo, que encarquilhavam os restolhos e acinzentavam as oliveiras. Os torrões secos esboroavam-se debaixo das patas da égua e as silvas, brancas do pó da estrada, deixavam nas pernas do médico longos traços lívidos.
Por vezes, entre as lanças verdes das piteiras, desenrolava-se o mosqueado duma cobra cinzenta de cabeça cilíndrica e inofensiva. A égua espantava-se ao rastejar do réptil, mas logo, recobrada a calma, cadenciava o passo na moleza do calor.
Até que o Sol estivesse bem a pino, Viegas gastava assim as suas horas, já sem doentes para ver, naqueles longos passeios, que o deixavam ao fim do dia num cansaço de velho que procura arrimo para distender os membros gastos.
Depois daquele momento de doida exaltação, que fora ao mesmo tempo tão simples e natural, não sossegara um instante sequer. Parecia-lhe ter constantemente diante dos olhos a cena infeliz, parecia-lhe ouvir ainda a sua própria voz pronunciar as palavras impossíveis. Havia momentos em que a recordação era tão viva e pungente, que cerrava os punhos e os olhos, como se uma dor física o atormentasse. Então, achava-se a murmurar:
- Que ridículo, Santo Deus!
Porque todo o seu desgosto era o imenso ridículo de que se revestia a seus olhos a proposta que fizera a Maria Leonor.
Casar! Imagine-se! Ele, Viegas, com quase cinquenta e cinco anos, gasto, atrever-se a pedir em casamento uma mulher de trinta, na eflorescência de todos os instintos sensuais que a natureza lhe dera! E fizera-o sem que o pejo lhe prendesse a língua! Mas, como se isto não bastasse, era preciso considerar que ela fora mulher de um amigo seu, de um grande amigo, por quem ainda chorava nos momentos de solidão e desânimo.
Como fora possível tal coisa? Iria jurar que dez minutos, que dez segundos antes, lhe não passava pela mente dizer semelhantes palavras. E, contudo, dissera-as! Mas porquê, justos céus? Se não era já capaz de dominar os seus pensamentos, se não conseguia ser senhor das suas próprias palavras, então, estava no último extremo da senilidade, da fraqueza mental, da baboseira! E sentia um prazer ácido insultando-se com aquele termo reles de baboso.
Passou assim três dias, prometendo-se todas as noites que no dia seguinte iria falar com Maria Leonor, desfazer aquele estúpido mal-entendido que vinha envenenar as relações de ambos, e pensando todas as manhãs, ao erguer-se da cama, que seria preferível guardar a explicação para quando fosse impossível evitá-la.
Na quinta-feira, à boquinha da noite, ia por todo o campo, ao redor do Parreiral, uma longa paz silenciosa, sob a cúpula azul-cobalto do céu, onde ponteavam chispas trémulas de estrelas e onde, do lado do poente, a última nuvem do dia, que mergulhava atrás do Sol, mostrava os contornos avermelhados e tortuosos, sangrentos como os despojos de uma batalha.
Viegas, depois de contemplar da varanda o pôr do Sol, viera para dentro e sentara-se à mesa. Tomé, o criado que em sua casa era despenseiro e ainda, moço de cavalariça e ajudante de laboratório, começou a servir-lhe o jantar.
Ainda o médico não tinha engolido a segunda colherada de sopa, ouviu-se na porta da entrada uma argolada forte.
Tomé resmungou qualquer coisa acerca do péssimo hábito do diabo e desceu para atender. Daí a momentos voltou. Trazia na mão um telegrama. Viegas abriu e leu.
Era do irmão, avisando que o filho chegaria no dia seguinte, no comboio da tarde.
Quando acabou de ler, Viegas empurrou o prato para o lado. Perdera o apetite ao lembrar-se de que tinha de ir à Quinta avisar da recepção do telegrama. Ainda procurou pensar que, provavelmente, o irmão remetera telegrama idêntico para Maria Leonor, mas logo pôs essa ideia de parte.
Levantou-se da cadeira e foi a um armário buscar o casaco. Vestiu-se, perante o olhar intrigado de Tomé, que, vendo o patrão com todo o ar de quem se dispunha a sair, perguntou:
- Então, o senhor doutor vai sair?
- Vou, não vês?
- E não janta?
-Não.
Era uma singularidade, não havia dúvida. O criado encolheu os ombros e começou a levantar o serviço. Viegas enfiou o chapéu e dirigiu-se para a porta.
Ao chegar ali, deteve-se, como se um pensamento súbito lhe ocorresse, e voltando-se perguntou:
- Ouve cá, ó Tomé, que pensarias ou que dirias tu se eu me casasse?
O criado pousou sobre a mesa a garrafa do vinho, e teve apenas uma pergunta:
- Agora?
Viegas olhou-o por momentos, sorriu nervosamente e murmurou:
- Sim, tens razão!... Agora...
Voltou costas e desceu. Cá fora, hesitou entre a caminhada a pé e a cavalo. Olhou para o céu e, imediatamente, decidiu-se pelo passeio pedestre. E foi isto mesmo que respondeu ao criado, que lhe perguntava da janela se queria a égua aparelhada. Enquanto descia a pequena avenida que levava à estrada dos marmeleiros, foi enchendo o cachimbo.
Parou no portão para o acender e, depois de duas largas baforadas, começou a andar, estendendo um pouco o pescoço para a frente, franzindo os olhos de míope para melhor ver o caminho que a noite ia escurecendo até não deixar ver mais que a mancha branca da estrada. Ao chegar perto do rio, cortou para um carreiro à direita, e foi subindo a margem por detrás da densa cortina de salgueiros que cresciam em maracha com os troncos e as raízes dentro de água. Mais acima, onde se erguiam duas gigantescas faias, era a ponte romana de um só arco. Atravessou-a. Perto, a duas centenas de metros, abriam-se os portões da Quinta Seca.
Viegas parou à entrada, hesitante. Um cão veio de dentro a ladrar, furioso, rosnando de suspeição ao chegar mais perto. Por fim, reconheceu o médico e começou a saltar à volta dele, tentando chegar-lhe aos ombros. Viegas afagou o animal e entrou. Percorreu a alameda devagar, parando a cada passo, até que chegou à porta. Todo o andar superior estava às escuras; apenas no rés-do-chão havia luz: de um lado, na sala de jantar; do outro, na cozinha.
O cão, como se apenas se tivesse proposto acompanhá-lo até ali, deixou-o e largou a correr outra vez para o portão.
Viegas ficou só, entre os umbrais. Arrastou os pés na soleira e por fim decidiu-se a entrar. Foi, pé ante pé, para a porta da sala e olhou para dentro. Tremeu.
Debruçada sobre a mesa, onde se enrolava uma toalha meia bordada, Maria Leonor explicava qualquer coisa, em voz baixa, à filha. No outro lado, Dionísio inclinava a cabeça para um livro.
Por momentos, Viegas pensou em fugir, em sair dali.
Veio-lhe ao pensamento a consciência do ridículo da sua situação de velho pretendente, que nem sabia por que o fora. Oculto pela sombra do reposteiro, passou, assim, segundos de miserável indecisão. Chamou-se idiota, criança, estúpido, e para sarcasmo final, velho. Depois, entrou.
Ao primeiro passo todos ergueram a cabeça, assustados, mas, enquanto Dionísio saltava da cadeira e corria para o médico e Júlia deixava a mãe para se precipitar atrás do irmão, Maria Leonor levava as mãos ao peito, muito pálida, e fazia menção de se retirar. Viegas nem para ela olhou. Recebeu nos braços abertos, que tremiam, as duas crianças, e a elas mesmas, atabalhoadamente, disse ao que vinha:
- Recebi há pouco um telegrama de Lisboa. O João vem amanhã, no comboio da tarde... - e sentindo que não podia dizer outra coisa, repetiu: - Vem no comboio da tarde... Amanhã...
Depois da última palavra, não soube que mais dizer. Ficou imóvel no meio da sala, com as crianças apertadas contra o peito, o olhar obstinado fixo na parede da frente, sentindo em todas as células do seu corpo um constrangimento doloroso, angustiante.
Foi Maria Leonor quem, primeiro, recobrou a serenidade. Veio da mesa com a mão estendida para o cumprimento. Viegas baixou os olhos e, despegando-se de Júlia, estendeu também a mão direita. O aperto foi tão frouxo que ambos sentiram o tremer das mãos, uma na outra. Mal se tocaram, deixaram cair os braços, num desalento magoado, cheio de cansaço.
Quando Viegas se encaminhou para o sofá, as pernas tremiam-lhe como juncos e Maria Leonor, ao voltar para a mesa, deixou-se cair na cadeira, com um grande suspiro de fadiga. O silêncio prolongava-se e ambos lutavam contra o medo de falar.
Por fim, Júlia, intrigada, olhou para o médico, e voltando-se para a mãe perguntou:
- Ó mãezinha, o senhor doutor parece que está doente?! Está tão branco!
Dionísio acercou-se também:
- E tem a testa toda húmida de suor!...
Viegas mexeu-se no sofá, pigarreou, aclarando a voz que se lhe prendia, e respondeu:
- Tenham juízo! Então eu, que sou médico, posso adoecer como vocês, com palidez e suores?..
Maria Leonor, do seu canto, depois de ter puxado a toalha para o regaço, lançou:
- Então, dizia o doutor que...
A voz extinguiu-se-lhe, mas o médico apanhou a deixa e continuou:
- Pois! Recebi um telegrama do Carlos, dizendo que o João chegará amanhã, no comboio da tarde... Devemos ir esperá-lo, não achas?
- Ah, pois claro! Iremos todos.
Júlia começou a saltar em volta da mesa, cantando, felicíssima. Só Dionísio se encostara à parede, com as mãos amuadas enfiadas nos cós dos calções, riscando o chão com a ponta da bota. E quando a irmã lhe perguntou se estava contente, teve um encolher de ombros indiferente e aborrecido.
Maria Leonor enfiou uma linha na agulha, forcejando por afirmar a mão e, depois de ter dado uns pontos, olhou pela primeira vez de frente o médico e perguntou:
- Acha que o seu sobrinho trará muita bagagem? Talvez seja preciso levar uma carroça...
Viegas estendeu o lábio inferior, num jeito de ignorância, e redarguiu:
- Não sei. Mas creio que não deverá trazer muitas coisas: uma criança... É verdade, onde dorme ele?
- Ficará no quarto ao lado do de Dionísio.
Júlia precisou:
- Já está pronto. É o quarto onde ficou o tio António quando cá esteve!
Viegas sentiu um arrepio quando Júlia falou no tio e não pôde impedir-se de olhar para Maria Leonor, que baixou precipitadamente a cabeça.
Houve um novo silêncio. Júlia, vendo que não lhe respondiam, foi para junto do irmão, que se sentara no sobrado, enrolando e desenrolando distraídamente a ponta do tapete.
O médico pensava já na maneira de se evadir da sala e de voltar para casa, quando entrou Benedita. A criada vinha sorridente e cumprimentou Viegas, expansiva:
- Boa noite, senhor doutor! Como passa?
Viegas gracejou:
- Boa noite! Não passo melhor porque não me deixam!...
Imediatamente se arrependeu da frase e olhou de soslaio para Maria Leonor, tratando-se mentalmente de burro. Ela tivera um gesto, meio constrangido meio impaciente, e logo redobrara de atenção ao bordado. Entretanto, Benedita atravessara a sala e, vendo Dionísio carrancudo, ajoelhou-se-lhe ao lado e perguntou, carinhosa:
- Que tem o menino?
Dionísio foi malcriado:
- É o sobrinho do senhor doutor que vem amanhã...
Júlia olhou para a mãe, receosa. Maria Leonor levantara-se de repente, atirara a toalha para o chão. Foi direita ao filho e puxou-o por um braço. Pô-lo de pé com violência.
Dionísio ficou diante dela, assustado, com as pálpebras trementes de medo, o braço dorido onde a mãe o empolgara.
E Maria Leonor, com os lábios brancos de ira, perguntava:
- Que quer o menino dizer com isso?
Benedita meteu-se de permeio:
- Então, minha senhora, o menino não pensou!...
A intervenção da criada foi a gota de água que fez transbordar a taça já cheia. Maria Leonor gritou:
- Cala-te! Mete-te na tua vida! - e voltando-se outra vez para o filho: - Responda ao que lhe perguntei! Já!
Dionísio encostou-se a Benedita. As mãos de Maria Leonor tremiam quando avançou para ele. Ia agarrá-lo novamente e castigá-lo, mas Benedita, num movimento rápido, escondeu-o atrás de si, e quando a ama procurava afastá-la da frente pôs-lhe a mão direita no braço, apertando-o com força e detendo-a na sua frente. Maria Leonor abriu para ela uns olhos espantados e ia empurrá-la, quando a criada murmurou:
- Não consinto.
A surpresa fez tartamudear Maria Leonor:
- Não... quê?
Benedita repetiu, mais alto:
- Não consinto!
E cravou na patroa um olhar carregado de intenções e de significado. Não necessitou de dizer por que não consentia.
Era a ameaça de sempre.
Ficaram uma diante da outra, silenciosas, inimigas, fuzilando ódios. No olhar de Maria Leonor, pouco a pouco, apagou-se o brilho colérico e os olhos amorteceram-se-lhe numa lassidão que lhe baixou as pálpebras vencidas. Virou as costas a Benedita e foi sentar-se outra vez na cadeira, defronte do médico, que assistira a toda a cena sem se mover e sem pronunciar palavra. E de lá, numa voz exausta e dorida, ordenou à criada:
- Vá deitá-los, faça favor!...
As crianças beijaram o médico e, depois de uma pequena hesitação, acercaram-se da mãe. Esta recebeu os beijos com indiferença e fez um gesto a mandá-las retirar. Saíram, seguidas de Benedita, que se despediu com um «boa noite!» sacudido, ofensivo.
Quando os passos dos três deixaram de ouvir-se no patamar, Maria Leonor inclinou a cabeça sobre os braços cruzados e rompeu a chorar, num abalo profundo de todo o seu corpo, que tremia, convulsionado, arquejante, contra a aresta viva da mesa, que lhe magoava o seio.
Viegas levantou-se e fez um movimento para ela, mas deteve-se. E disse apenas uma palavra, murmurada num ciciar compadecido e triste:
- Leonor!
Ela ergueu a cabeça. E estava tão bela na sua esplêndida maturidade, com aquele brilho de lágrimas nos olhos e nas faces, os cabelos desmanchados, soltos como ondas de um mar dourado, que Viegas sentiu correr-lhe no sangue um espreguiçamento voluptuoso, um vago erotismo que lhe arrepiou a espinha.
Mas logo se recriminou por aquela sensação. No rosto de Maria Leonor só havia mágoa, uma dor infinita e sem amparo, um desvairamento perdido, a consciência de uma fraqueza total e irremediável. Diante daquela face desfeita, Viegas teve o impulso íntimo que o empurrava para a cabeceira do doente que se torcia nas garras da moléstia. E em todo o seu ser houve apenas o desejo de consolar aquela dor e de enxugar aquelas lágrimas.
- Sossega! Escuta-me!
Nervosamente, deu alguns passos em frente até à beira da mesa. Ali, obrigando-se a fitar Maria Leonor, foi dizendo numa voz trémula que se firmava pouco a pouco:
- Quero pedir-te desculpa do que disse na última vez que aqui estive. Não pensei no que disse, nem sei mesmo por que o disse. A minha idade devia obrigar-me a ter mais cuidado e os cabelos brancos deviam dar-me a frieza do coração que me faltou naquele momento! Mas eu quero esquecer aquela hora e espero da tua caridade que a minha presença não se torne para ti um motivo de escárnio! - respirou fundo e prosseguiu: - De resto, o que te pretendia dizer agora não era isto. Quis apenas aliviar a consciência... Mas, vendo o que se passou há momentos, considero o que se perdia se tivesse a loucura de insistir e tu a loucura maior de aceitares. As nossas vidas, o nosso sossego, estariam à mercê dos caprichos dela. Veríamos a cada passo o seu sorriso maldoso, escarnecedor, a sua impudente segurança. Não é o medo nem o egoísmo que me obrigam a retirar o que propus: é a certeza de que te posso valer bem mais como amigo do que como... nem posso pronunciar a palavra, vê tu! Compreendes o que quero dizer? Sou teu amigo e quero continuar a ser apenas teu amigo!
Toda a firmeza de Viegas desaparecia. A voz sumiu-se-lhe.
Maria Leonor, atordoada, ergueu-se da cadeira e apoiou as mãos ao espaldar. Deu um fundo suspiro e respondeu:
- Compreendo...
Indicou o andar de cima e continuou, como se falasse consigo própria:
- Se não fosse ela, eu seria sua mulher.
Viegas ergueu o tronco num movimento brusco. Teve um sorriso triste e respondeu:
- Perdemos ambos o juízo! Amanhã, à luz do dia, tudo isto nos parecerá um pesadelo e teremos vontade de fugir um do outro!
Recobrava a calma. Sentia-se aliviado do tremendo peso que trouxera no pensamento durante os últimos três dias.
E agora desejava apenas sair, evitar mais explicações sobre aquele assunto tão melindroso, que o mais leve exagero faria descambar no irrisório. Apesar de toda a sua sinceridade, e talvez mesmo por ela, temia que, com o regresso da fria razão, viesse também a percepção daquela ponta de ridículo que existe em todas as coisas, por mais graves e dolorosas.
Estendeu a mão, já firme e serena, a Maria Leonor, que lha apertou por cima da mesa. Com os dedos presos e unidos na despedida, olharam-se.
- Até amanhã, Maria Leonor!
- Até amanhã!
O dia seguinte acordou pesado e cinzento. O céu toldara-se de nuvens baixas, por onde o azul aparecia apenas de longe, quando o vento alto e quente as rasgava. Havia uma atmosfera morna, abafadiça, que anunciava trovoada, e já para as bandas dos cerros do poente corriam rumores de trovões, entrecortados pelo rasgar de sedas dos relâmpagos. Os cumes altos dos montes, vistos da Quinta, iluminavam-se de uma claridade violeta, onde os pinheiros se desenhavam negros e nítidos. Depois do relâmpago vinha o enrolar do trovão, primeiro tímido e espaçado, desabrochando depois no esplendor sonoro que enchia o céu, até morrer como começara, num esmorecer que era o início de novo trovão. O Sol passava através das nuvens escuras, lançando para baixo, nos espaços, furtivos raios, que amarelavam com um tom de ocre luminoso os campos sombrios. Sobre a terra ia um mal-estar indefinido, uma expectativa ansiosa. Os animais tremiam de excitação quando as descargas eléctricas longínquas traziam na atmosfera o retumbar abafado da trovoada. E o mormaço do vento arrepiava os ramos das árvores, que pareciam crispar-se da mesma ansiedade que perturbava os animais.
Por volta do meio-dia, a trovoada fugiu mais para poente, deixando ficar sobre o campo a humidade superficial das grossas e raras gotas de chuva que soltara nos caminhos empoeirados e nos restolhais secos e endurecidos.
Jerónimo, que levara a manhã a erguer para o céu a face tisnada e rugosa, pôde, pela hora da sesta, dizer à patroa que podiam ir à estação sem perigo de uma molhadela desagradável. No entanto, não deixou de acrescentar:
- Mas, para acautelar, sempre será bom levar os guarda-chuvas e os capotes, que a estação é longe e o caminho desabrigado!
Assim fizeram. Uma hora antes da chegada do comboio saíram da Quinta, na charrette, bem defendidos contra todos os possíveis temporais. Jerónimo, com a velha capa alentejana e os safões de pele de carneiro preto, empunhava as rédeas. Em voz baixa insultava o cavalo que lhe parecia molengão e trôpego. Dionísio, sentado no banco, ao lado dele, ainda sentido da noite anterior, embrulhava-se num oleado, e, de vez em quando, deitava um olhar de esguelha para a mãe, num desejo de reconciliação de que a sua natureza de tímido o afastava. Para se consolar ia arquitectando impossíveis sonhos de boas relações com o sobrinho do doutor e rebuscando nos seus pobres conhecimentos infantis tudo o que o pudesse colocar num plano superior a ele.
Atrás e sentadas de costas para o cavalo, iam Maria Leonor e a filha. Júlia pusera no vestuário, a par da necessária segurança contra o tempo carrancudo, uma inconsciente garridice, que fazia sorrir a mãe. Assim, atara os cabelos com uma fita cor-de-rosa e deixara cair o capucho para trás, para que se não perdesse nem o brilho da seda nem o arranjo dos caracóis. Maria Leonor aconchegava-se na sua capa escura, que a cobria até aos tornozelos. No fundo da charrette iam guarda-chuvas para todos.
Correram até Miranda ao trote descansado do cavalo.
Quando chegaram à porta do Tendeiro, pararam. De dentro saía Viegas, que limpava ainda os lábios húmidos do 18 º.
O médico cumprimentou e subiu para o carro. Enquanto Jerónimo agitava as rédeas sobre o dorso do cavalo e a charrette arrancava com lentidão nas pedras roliças da calçada, apertou em silêncio a mão de Maria Leonor. Fez um sinal na direcção de Dionísio, que se voltara para a frente: ela encolheu os ombros, semicerrando os olhos num gesto de ignorância.
Enquanto atravessavam a aldeia e cumprimentavam à esquerda e à direita os amigos que passavam, ninguém trocou palavra. Depois de deixadas atrás as últimas casas, que vinham rareando entre espaços descobertos, cada vez mais largos e silenciosos, entraram no campo que se desdobrava pelo meio dos troncos cinzentos e mirrados, até desaparecer atrás da cortina escura das ramagens. Rente ao chão, corria um vento quente, que levantava nuvens de pó vermelho debaixo das patas do cavalo. E o rodar da charrette com o trote do animal eram os únicos ruídos que atravessavam àquela hora escura da tarde o silêncio dos olivais. As nuvens, baixas novamente, pareciam roçar as copas atarracadas das árvores.
Viegas exprimiu o pensamento de todos quando murmurou:
- Parece-me que vamos ter uma tarde de água...
Do banco da frente, Jerónimo ainda quis negar, mas depois de olhar para o céu encarvoado acabou por acenar com a cabeça, fazendo oscilar a borla do barrete. Olhou para cima mais uma vez e deu uma chicotada valente no cavalo, que atirou um esticão a fugir do castigo.
Enquanto a charrette corria, assim, estrada fora, Viegas voltou-se para Maria Leonor e murmurou por cima da cabeça de Júlia, como se reatasse uma conversa interrompida:
- Pensei muito esta noite, em tudo... E cheguei à conclusão de que caminhava para isto desde que para cá vieste!
Ela deitou um olhar curioso ao médico e juntou, enquanto alisava os cabelos da filha:
- Há dez anos...
- É verdade, há dez anos. E nunca tinha dado por tal!
Os meses e os anos passavam sucessivamente, naturalmente, tudo era simples, sem complicações, sem que qualquer pensamento importuno me viesse prevenir contra a eventualidade de uma coisa destas. Não! Apareceu sem aviso, ao fim de tantos anos, de repente, como aparece o primeiro broto verde do trigo.
O trabalho da germinação ninguém o vê, oculto pelo véu negro da terra, enquanto vai erguendo devagar o torrão que lhe impede a passagem, até aparecer à luz do Sol, glorioso na sua pequenina força tenaz, ressurgindo das trevas num grito de vitória que ecoa pelos campos... Há uma esplendorosa vitalidade naquele grito de esperança! Estendeu as pernas até ao fundo da charrette, olhou pensativamente as botas empoeiradas e acrescentou: - Naquele infeliz brotar é que não houve glória, nem vitalidade, nem nada, senão fraqueza!...
Entre as pregas do capucho, Maria Leonor deu um suspiro:
- Houve grandeza.
O médico encolheu os ombros.
- Ora!...
Calaram-se. Ambos sentiram quão falso era o terreno que pisavam e a inutilidade do que diziam. Tudo era vagamente ridículo e fútil, as próprias palavras vinham desajeitadas e sem sentido.
Ao balanço do carro, por entre os troncos angustiosamente contorcidos, como se em cada raiz houvesse uma dor oculta, tudo era supérfluo. Apossou-se de ambos uma indefinível sensação de pesadume incómodo, de aborrecimento por aquela situação. Por momentos, desejaram não se ter conhecido.
Quando a charrette passava entre duas altas filas de sobreiros de tronco esfolado, mostrando a madeira dum vermelho-escuro como sangue seco, caíram do céu as primeiras gotas de chuva. E logo a seguir, por detrás das ramagens das árvores, brilhou a luz violenta de um relâmpago. A trovoada voltava. Houve um breve momento de silêncio no espaço e o trovão desabou sobre a terra como se o céu viesse abaixo.
Esbarrondou-se numa lentidão majestosa e foi, por entre as árvores, acordando todos os ecos que subiam espavoridos nas alturas e vinham cair de novo, já amortecidos, numa confusão de sons que morriam.
Ao ruído do trovão, o cavalo encabritara-se entre os varais, e, para que se não espantasse, foi preciso que o abegão quase lhe rasgasse a boca no puxar desesperado das rédeas.
Júlia refugiara-se no colo da mãe, a rezar, com a língua entaramelada, a Santa Bárbara. Dionísio, após um sobressalto de susto, fitava o céu com o vago receio corajoso de quem não quer ter medo.
Mas a chuva, como daí a pouco disse Jerónimo, estava pegada. Quando chegaram à porta da estação, caía já com violência, em cordas translúcidas, que se sumiam no chão duro.
Entraram na estação a correr, sacudindo-se, rindo. Ao tropel, veio da bilheteira o Cardoso, o chefe, que todo se admirou por vê-los ali. Foi Viegas quem explicou: vinha esperar o sobrinho. E logo o outro, pesaroso, informou que o comboio se atrasara no Setil uns vinte minutos. Daí para cima vinha a mata-cavalos (e aqui o Cardoso fazia a velha graça, trocadilhando com os cavalos-vapor), mas mesmo assim não devia vencer o atraso.
- Há que esperar, então?!...
O chefe fez um trejeito dolorido com os lábios, confirmando:
- Pois é! Há que esperar.
Foi até à porta do cais, espreitar instintivamente, a «ver se já lá vinha o comboio»... Voltou para dentro: o comboio não chegava. Mas veio-lhe a ideia de oferecer a Maria Leonor que se acomodasse na casa da bilheteira, enquanto esperava. Sempre estaria mais à vontade! Entraram todos. Cardoso empurrou dois caixotes, espalhou um maço de jornais no tampo de um barril de vinho e convidou-os a sentarem-se.
Lá fora a chuva continuava a cair. Sentada ao lado da janela, Maria Leonor olhava através dos vidros sujos os carris negros e brilhantes, que desapareciam numa curva larga, por detrás do talude onde cresciam piteiras esguias. O relógio monotonizava o silêncio.
Já passavam alguns minutos da hora da chegada quando Dionísio, que fora deitar uma olhadela à escrita do Cardoso, teve um movimento brusco, que fez estremecer a mesa, e voltou-se para o médico:
- Ó senhor doutor, o João... o sobrinho do senhor doutor vem sozinho?..
Havia uma admiração mal reprimida no seu olhar. Viegas abanou a cabeça:
- Não, não vem sozinho! Vem com um amigo do pai, que segue viagem.
O fulgor admirativo apagou-se no olhar de Dionísio, que soltou um «ahn!» desiludido mas contente.
Novo silêncio. A chuva, agora empurrada pelo vento, vinha desmaiar nos vidros da janela. A tarde, ensombrada ali pelos grandes eucaliptos que bordavam a linha, escurecia a bilheteira. No chão de cimento da sala de espera, raspavam botas cardadas.
Viegas murmurou:
- Espero que te dês bem com o João...
Dionísio e a mãe olharam para o médico, sem saber a qual dos dois se dirigia a frase. Foi ela quem respondeu:
- Decerto...
Interrompeu-se ao ouvir lá fora o sinal indicativo de que o comboio partira já da estação anterior. Levantaram-se e saíram para o cais. Abrigaram-se debaixo do alpendre, olhos fitos na curva da linha, à espera. Passaram longos minutos.
Dionísio agitava-se, nervoso. Júlia esticava o pescoço e compunha o laço da cabeça.
Lá de trás do talude, onde a linha se ocultava, começou a vir o ruído das mil rodas do comboio. E o som, primeiro abafado e indistinto, aumentava de volume correndo sobre as travessas de pinho, passando diante da estação sem se deter.
Depois, foi o penacho branco da locomotiva, que se mostrou por cima das árvores, e logo a seguir, num rugir de ferros, o comboio apareceu. Pelo dorso negro da locomotiva corria a água da chuva como suor. O comboio parou diante da estação com um longo suspiro cansado. Aqui e ali abriram-se as portas das carruagens. Uma cabeça espreitou para fora.
Saltaram passageiros arrastando bagagens. E, imediatamente, o comboio, com um novo suspiro de cansaço e resignação, se empurrou pela linha fora.
Viegas olhou pelo cais e exclamou:
- Lá está ele! Ali!
Apontou um rapazinho, que se esforçava a puxar duas malas para debaixo de uma árvore. Correram para lá. E sob os grandes ramos do sobreiro, Viegas abraçou o sobrinho.
Depois, foram as apresentações:
- O meu sobrinho João... a senhora dona Maria Leonor... a Júlia... o Dionísio...
Maria Leonor beijou o pequeno, e Júlia, após uma breve hesitação, também o beijou. Quando foi a vez de Dionísio, João estendeu-lhe a mão aberta, como num cumprimento entre homens. E Dionísio, acanhado, retribuiu. Ficaram depois a olhar-se, um momento, de mãos apertadas. Os olhos de um corriam o rosto e o corpo do outro, à procura do motivo inicial de simpatia.
Houve, a seguir, um momento de embaraço. As apresentações estavam feitas, o conhecimento travado, mas dir-se-ia faltar qualquer coisa, um movimento espontâneo de carinho, um grito de alegria jovial e feliz.
No cais deserto, a chuva continuava a cair mansamente, sem ruído. Uma grande nuvem cinzenta subia do Sul com o ventre cheio e pesado. Dos beirais da casa da estação caíam longos fios de água, que iam desaguar na linha em pequenas cascatas.
No crepúsculo que o céu coberto precipitava, saíram do cais. Vinham com um vago aborrecimento, como se tivessem sido esbulhados de qualquer coisa que esperassem. João enfiara as mãos nas algibeiras e caminhava entre o tio e Maria Leonor, metendo os pés, deliberadamente, nas poças de água.
Dionísio olhava-o de soslaio.
Quando chegaram junto da charrette, onde Jerónimo os esperava, embrulhado na sua capa, o cavalo teve um brusco movimento espantadiço. O abegão deu-lhe com o cabo do chicote no focinho. O animal relinchou de dor, ergueu a cabeça, revoltado, num ímpeto que lhe fez voar as crinas longas. Recuou como se quisesse fugir aos varais, mas Jerónimo deitou-lhe as mãos às rédeas, perto da boca, e sujeitou-o até o sossegar.
Ao espantar do cavalo, João, que nesse instante passava diante dele, assustou-se e soltou um pequeno grito. Deu dois passos precipitados atrás e foi esbarrar com Dionísio, que o seguia. Quando tudo acabou, olharam-se sorridentes.
Depois, subiram todos para a charrette. Quando já estavam sentados, Jerónimo resmungou, de baixo:
- E agora, onde é que eu me meto?
Efectivamente, não havia lugar. O abegão já pensava em ir sentado num dos varais, quando Dionísio teve uma ideia:
- Sentamo-nos os três no banco da frente, a mãezinha e o senhor doutor no de trás e...
Jerónimo tomou:
- E eu?..
- Vai de pé, entre os dois bancos!
- Não está mal lembrado, não senhor!
E saltou para o carro. Lá em cima, com a sua capa alentejana, o barrete preto, a barba grisalha e crescida, o bom Jerónimo parecia um frade antigo. Só nas suas mãos o chicote destoava do conjunto: frades não usam chicote.
A charrette deu a volta e começou a descer o empedrado. Depois entrou na estrada e o rumor diminuiu na lama fina e líquida que a cobria. A chuva cessara e agora, na noite que chegava, era só o ruído das patas do cavalo que se ouvia no caminho. Atrás, o médico e Maria Leonor começaram a falar em voz baixa, e logo Dionísio entrou de dar tratos à imaginação para encontrar motivo de conversa. Fora ele quem propusera que seguissem os três no banco da frente... Era preciso dizer alguma coisa!
Lá de trás veio a voz da mãe:
- Dionísio! Então!...
A expressividade daquele «Então!...» ainda mais o embaraçou. Respondeu sumidamente:
- Já vai, mãezinha!...
E foi. Foi Júlia quem começou a cantar, debaixo do seu capucho de lã, a Caninha Verde:
Oh, minha caninha verde,
Oh, minha verde caninha...
E por aí fora. Daí a pouco, Dionísio entrava também na cantoria, e logo depois, apanhada a música e a letra, João juntava a sua voz ao coro. Estava desfeito o gelo. Acabada a cantiga, houve risos e palmas, e não tardou nada que Jerónimo lembrasse outra, o Mestre Gadanheiro. Ele próprio acrescentou ao coro a sua voz grossa e áspera, que fez arrebitar as orelhas do cavalo.
Atrás, Viegas murmurou:
- Até que enfim respiro...
- Também eu! - respondeu Maria Leonor.
Daí por diante tudo foi fácil. Já não eram só cantigas que vinham do banco da frente, eram também ruidosos projectos de grandes passeios e pescarias, de caçadas aos ninhos...
Mas, aqui, Júlia protestava, indignada:
- Isso não! Para isso não contem comigo!...
João também concordou:
- Sim, ninhos, não! Só para ver...
Dionísio cedia, radioso. E, reentrado na consciência da sua própria segurança e do seu valor, atirou de novo, para o ar húmido e escuro, a voz infantil nos versos ingénuos da caninha eternamente verde e fresca.
Quando chegaram à Quinta, o coral ia no auge. E agora era João quem o guiava nas estrofes gloriosas do «Zé Pereira». O «pum! pum! pum!» retumbava entre as filas das acácias, enquanto a charrette avançava no caminho já todo negro.
Pararam à porta da casa e apearam-se. João teve um olhar apreciativo para a fachada, onde corriam no andar de cima as oito janelas que deitavam para a alameda, e procurou espreitar, por entre os troncos, a quinta, invisível àquela hora e com aquele tempo.
Quando entraram em casa, veio-lhes ao encontro Teresa.
Maria Leonor apresentou-a:
- Esta é a Teresa...
O pequeno sorriu, respeitoso:
- Muito gosto...
E ficou-se a olhar a casa, os sofás de veludo vermelho antigo, os altos tectos apainelados de castanho, o corrimão luzidio e polido. Mas logo Dionísio e Júlia o arrancaram da contemplação e o levaram a correr a casa toda, num rebuliço alegre, que fazia tremer os vidros.
Maria Leonor sorriu, satisfeita. Desapertou a capa encharcada e atirou-a para cima duma cadeira.
- O doutor janta cá, evidentemente...
- Sim, se me quiseres.
- Que resposta! - e, para Teresa: - Diz à Benedita que venha falar-me.
Teresa ia cumprir a ordem, mas logo voltou:
- Que cabeça a minha! A Benedita, logo que a senhora saiu, foi-se deitar. Queixou-se de que lhe doía a cabeça.
Maria Leonor olhou para Viegas, surpreendida. O médico encolheu os ombros.
- Bom, então vê tu que se não atrase o jantar!...
Teresa saiu. Quando abriu a porta que dava para o corredor que levava à cozinha, vieram de lá as gargalhadas esganiçadas de Joana. Que brincadeira iria por ali!
Viegas tirou o sobretudo e deu-o a Maria Leonor.
- Que quererá dizer esta doença? - perguntou ela.
- Ora! Provavelmente o que querem dizer todas...
- Mas não andará qualquer coisa por detrás disto?
O médico ergueu as sobrancelhas.
- Lá voltam os eternos receios! Como queres que o saiba? Todos podemos dizer que nos dói a cabeça, mesmo que estejamos de perfeita saúde.
Maria Leonor deixou-se cair num sofá.
- Tudo o que ela faça ou diga tem sempre para mim um segundo sentido, uma intenção reservada. E justamente o que me tortura é o não saber ainda, depois de todo este tempo, quais são as suas verdadeiras intenções.
- Mas para que hás-de preocupar-te com semelhantes pensamentos? - deu um jeito ao casaco, compôs os óculos e acrescentou:
- Bom, eu não posso deixar de lá ir acima ver o que ela tem...
- Pois sim, vá.
Enquanto o médico subia a escada, Maria Leonor levantou-se e dirigiu-se para a sala de jantar. A mesa, já posta, resplandecia de cristais e de lumes. Foi até à janela e espreitou para fora, através dos vidros embaciados. O céu descobria-se lentamente e, por entre as nuvens ténues que se dispersavam, luziam estrelas. De fora vinha o negro sussurrar das árvores. Os últimos respiros do vento sopravam na alameda, uns atrás dos outros, na pressa de partir daqueles sítios.
Maria Leonor abriu a janela, debruçou-se, e inconscientemente, durante alguns momentos, procurou imaginar-se na alameda, olhando a casa toda embrulhada na escuridão, a arregalar apenas as órbitas vazias e brilhantes das janelas iluminadas. E a casa, com aquele olhar fixo e duro, a tentar furar as trevas, devia parecer-se com um grande monstro de muitos olhos, sempre vigilante.
Por cima de si acendeu-se outra luz. O monstro acordava e ia levantar-se, despegar os grossos membros enterrados no chão, e caminhar através dos campos empurrando as árvores para os lados, pisando as vegetações húmidas, sempre com os olhos inexpressivos brilhando no escuro. Era horrível a caminhada do monstro, com o seu capacete de telhas musgosas, manquejando nos alicerces, subindo e descendo os valados e chocalhando dentro de si os móveis e as pessoas.
Agora, o monstro rodopiava numa tarantela doida e ia subindo uma encosta onde, no cimo, se elevavam muros brancos, fechados por um portão velho e ferrugento, que arrombava num só contacto. Sempre bailando, o monstro enchia as paredes e derrubava plantas e cruzes até ao fundo, onde se erguia um pequeno montículo de terra, num esforço logrado para atingir o céu.
Ao chegar ali, o monstro deixou-se cair no chão, de cansado. Os olhos iam-se-lhe fechando, pelo capacete musgoso corriam-lhe gotas de água, que pareciam lágrimas caídas dos ramos das árvores.
E adormeceu. Mas, enquanto dormia, gemia e suspirava.
Maria Leonor, agora nas garras da alucinação, via-se tentando fugir de dentro da escuridão do monstro adormecido. E conseguia-o. Ia, cautelosamente, pelo caminho, reprimindo o desejo de largar a correr, espavorida. Quando chegava ao portão, ouviu, atrás de si, um ronco. O monstro acordava, abria todos os seus olhos, e ela ficava toda banhada naquela luz agressiva, dura e inexorável. E voltava. E o monstro tornava a adormecer, suspirando e gemendo.
Aqui, Maria Leonor fez um violento esforço. Atirou a janela num repelão e correu para dentro, trémula, com os olhos dilatados, e todo o terror que era possível sentir estampado no rosto.
Precipitou-se para a porta. Ia fugir de casa, gritar, num pavor louco e insensato. Nesse momento entrava Viegas, e ela ficou nos braços dele, a tremer, num frenesi histérico que lhe fazia castanholar os dentes.
Viegas assustou-se:
- Que é isso, Maria Leonor? Que tens tu?
Ela quase lhe desmaiava nos braços. E balbuciava:
- É horrível!... O monstro... Sentado no coval do Manuel! Jesus!
O médico levou-a para o canapé de verga e deitou-a.
Borrifou-lhe as faces, encharcou-lhe as têmporas, abanou-a com força. Por fim, Maria Leonor serenou. Começou a chorar e caiu numa lassidão completa. O sangue fugiu-lhe do rosto e ficou branca e fria, com um grande suor a humedecer-lhe a fronte.
- Jesus! Jesus! - murmurou outra vez.
- Mas que tens tu? - insistiu Viegas. - Acalma-te!
Não tarda que venha gente.
Ela limpou as lágrimas, deixou pender a cabeça para o espaldar da cadeira, e numa voz que tremia contou a pavorosa alucinação.
Quando acabou, Viegas conduziu-a à mesa. Ela sentou-se e cruzou os braços sobre a toalha, exausta.
O médico ficou de pé, pensativo. E depois de um grande silêncio, murmurou:
- Vamos tentar não pensar, nem falar nisto, até amanhã.
Esta noite não nos pertence. É dos pequenos que lá andam dentro. Reage, Maria Leonor, peço-te! Amanhã discutiremos o que é preciso fazer.
- Pois sim...
Daí a pouco as crianças entraram e começou o jantar.
Viegas, no dia seguinte, voltou à Quinta. Ao apear-se da égua, à porta, logo lhe vieram de dentro os risos e as correrias estrondosas das crianças. Ainda com um pé no estribo, espreitou para dentro, risonho, curioso daquela alegria que parecia expandir-se através das paredes. Atrás de si, o seu velho perdigueiro erguia metade das orelhas e farejava, intrigado.
Levando o cão nos calcanhares, o médico entrou, para logo estacar na soleira da porta. Do alto da escada, sobre o corrimão, precipitava-se o sobrinho. Em baixo, Dionísio e a irmã aguardavam de braços abertos a queda.
Viegas teve uma larga exclamação:
- Então, na alegre brincadeira?!...
Os dois irmãos voltaram-se para ver quem falava, mas imediatamente se estatelaram no soalho debaixo do peso de João, que terminava em cima deles a sua viagem quase aérea.
Ficaram os três enrodilhados no chão, enquanto o médico atirava uma risada. O perdigueiro correu para o emaranhado de pernas e braços, e latiu, desconfiado de tal abundância de membros em espaço tão reduzido.
Quando os três garotos se levantaram, esfregando os joelhos, Viegas ainda ria:
- Então, vocês tratam assim as visitas?!
Sorriram, mal refeitos da queda. E Dionísio rectificou, muito pronto:
- Se o senhor doutor não tivesse falado, o João não caía...
- Pois foi! Mas vocês magoaram-se muito?
Todos negaram. Acabavam de ver lá fora a égua, a garupa forte luzindo ao sol, sacudindo as moscas com o abanar impaciente da cauda. E o selim, visto de longe, parecia-lhes o melhor assento do mundo.
Correram para a porta. Dionísio punha já o pé no estribo e agarrava-se às crinas para subir, quando a lembrança do que era seu dever fazer naquele momento o deteve. Largou o estribo e o pescoço da égua e disse para o companheiro:
- Sobe tu, João! Vais ver como é bom!
Já se tuteavam. O jantar do dia anterior completara a obra que o pequeno orfeão iniciara. E depois da refeição terminada e todos os habitantes da casa deitados, os dois irmãos tinham-se evadido dos quartos para passarem a noite com o hóspede. Sentados na beira da cama, todos contaram histórias e as respectivas vidas.
Agora, escarranchado na égua que Dionísio conduzia pela arreata, João ria, contentíssimo. Júlia, agarrada a uma das pernas dele, gritava para o irmão que não puxasse com tanta força porque podia haver perigo de cair...
- Qual cai?! Não cai nada!
Viegas, encostado à ombreira da porta, sorria. E, por fim, mandou-os subir aos três para cima da égua. Logo Júlia teve um grande movimento de piedade:
- Mas o cavalinho não pode...
João, de cima, excitado, garantia que eram todos leves, que a égua podia perfeitamente. E o tio tinha mandado...
Acabaram por subir. Daí a momentos, Viegas conduzia, para cima e para baixo, na alameda, a sua velha égua mansarrona e pacata, com aquela carga de juventude radiosa.
O perdigueiro, com a cabeça alongada entre as patas, tinha-se estendido a gozar o sol e o espectáculo. Os criados que passavam sorriam para o grupo. Quando Maria Leonor apareceu à porta, o médico acenou-lhe:
- Viva! Como estás vendo, de cirurgião a ama-seca vai um passo!...
Deixou a égua e dirigiu-se a Maria Leonor. Junto dela, com um olhar enternecido para as crianças, murmurou:
- Os garotos estão felicíssimos...
- É verdade! Têm levado a manhã inteira naquela doida alegria!
Dionísio, quase sentado no pescoço da égua, puxava as rédeas para a obrigar a voltar.
- Vamos indo? - perguntou Maria Leonor.
- Vamos indo aonde?! - respondeu o médico, intrigado.
- Combinámos dar uma volta para mostrar a Quinta ao João...
- Ah, bom!...
Voltou-se para os garotos, que esperavam, ainda em cima da égua.
- Acabou-se a cavalgada! Todos para o chão!
Lá de cima veio um murmúrio desaprovador. Mas como naquele momento a égua se sacudisse sob a picada mais forte dum moscardo, deitaram-se todos abaixo, tomados de pânico, como se temessem vê-la partir à desfilada.
Reunidos debaixo do alpendre, discutiram a volta a dar. Assente o itinerário, as crianças romperam a marcha, depois de um último olhar saudoso para a égua, que se afastava, levada por um moço.
Passadas as primeiras árvores da alameda e quando o riso das crianças já se ouvia adiante, Maria Leonor começou:
- Creio que estou doente, doutor... Trago em mim uma sensação de incompletude confrangedora e arrepiante. Ando separada de qualquer coisa, sem a qual não penso, não vivo. É como se me tivessem esvaziado de tudo quanto é espírito e me tivessem deixado apenas a matéria, incapaz de viver e de pensar só por si! Tudo isto me dá um sentimento de inexplicável vazio, uma angústia de quem procura e não acha, de quem sabe que deve fazer algo, mas ignora o quê...
- Como passaste a noite?
- Como passei a noite?! Imagine!
- Mal, suponho eu...
- Não. Estupidamente calma. Dormi como só dormem as crianças e os mortos.
- É extraordinário!
- Pois é isto, precisamente, que me obriga a pensar que a minha alma deve andar por muito longe.
Viegas sorriu-se.
- Não ria, doutor! Alma, sim! Alma! Pois não vê que, apesar de tudo o que se possa dizer contra o emaranhado de superstições e crendices a que a ideia da alma deu origem, a íntima consciência da inevitabilidade da sua existência permanece sempre? Não vê que não há outra solução?
O médico parou para acender o cachimbo. À frente, João, empoleirado num marco de pedra, seguia com a vista um carro de bois que Júlia lhe apontava.
- Dar-se-á o caso de que a velhice do padre Cristiano te tenha inspirado tão fortes razões e argumentos que te levem a falar assim?
- Não tenho falado com o padre Cristiano!
- Então, houve revelação?!
- Por favor, não brinque!...
Ai, não estou a brincar, menina, não estou! Só quero saber o que posso fazer por ti. Bem vês, se te refugias na religião, então, eu, do fundo da minha insignificância, afasto-me e deixo o campo livre à consolação suprema...
Maria Leonor teve um gesto de desespero:
- Não sei, não sei nada!
- Bom, aí está um princípio! Achas-te nas condições necessárias para começar a saber qualquer coisa!
Interromperam-se. Tinham alcançado as crianças, que miravam a debulhadora. Viegas deu ao sobrinho umas explicações apressadas sobre o funcionamento da máquina. Depois, continuaram:
- Vamos a saber. Ela?..
- Continua doente, segundo diz. Dores de cabeça, inverificáveis.
- De facto. Viste-a?
Houve uma náusea no rosto de Maria Leonor.
- Não, não vi! Receio não poder dominar as mãos e...
-E?..
- Matá-la!
- Que disparate! Não achas que para falar da existência da alma, com o teu entusiasmo, é preciso respeitar um pouco mais o corpo? Ou a certeza de que não lha destruirias te bastava?
- Não discutamos isso!
- Como queiras...
Sentaram-se no muro que delimitava a Quinta, daquele lado. Em baixo era o prado, onde pastavam cavalos. Ao fundo, entre choupos de tronco branco, o rio, que àquela hora da manhã se esgueirava por debaixo de uma neblina ténue, que o vento e o sol desfaziam aos poucos. No céu já eram raras as nuvens e o azul começava a surgir em largas faixas, ainda veladas e indecisas.
Entre os esteios da latada que cobria o poço, os garotos jogavam «o esconder». E eram gritos alegres de «e já!» e risadas frescas quando o fugitivo era agarrado e protestos de «assim não vale!». Por entre as árvores do pomar, que se alargava além do poço, corria uma aragem fresca e húmida, cheirando a terra molhada, o bom cheiro das núpcias do solo e da água.
Viegas passeou o olhar pelo campo, do lado de lá do rio, até às colinas negras de mato que fechavam o horizonte.
E observou:
- É, realmente, um sacrilégio falar nestas coisas, sob este grande céu onde têm cabido todos os deuses, sobre esta beleza de terra. Isto não vem a propósito, mas, crê, há momentos em que desejaria sentar-me naquelas leivas verdes, deitar-me ao comprido naqueles sulcos negros e ficar o dia inteiro a desfazer torrões com os dedos, a enterrar as mãos na terra, a possui-la durante horas seguidas numa lenta e consoladora volúpia.
Pelos olhos de Maria Leonor passou uma comoção intensa, que os fez rebrilhar.
As mãos afagaram nervosamente a saia e descansaram depois, já pacificadas, no veludo verde do musgo.
Do poço, vinha agora a melopeia de uma dança de roda. A vozinha fina de Júlia enumerava as flores do jardim da Celeste e os garotos acertavam o tom para explicar o que tinham ido lá fazer. Acabadas as coplas, seguia-se o estribilho florido do giroflé-giroflá.
- Em que pensa? - perguntou Maria Leonor.
O médico, após um momento de silêncio, respondeu:
- Estava a pensar na minha teoria da simplicidade da vida e na inveja louca que tenho do apuro a que os homens das cavernas a tinham levado! Naquele tempo, era a grande Natureza a senhora de tudo. E não me parece que se tenha verificado a existência de Beneditas arreliadoras, de Leonores infelizes e, muito menos, de Viegas cirurgiões e conselheirosos. Então, a machadinha de sílex resolvia quase todos os problemas e dificuldades... O pior foi que a evolução do teu Spencer deu cabo de tudo!
Maria Leonor teve um sorriso significativo, intencional:
- É a Fatalidade, meu caro doutor, é o «estava escrito»!
O médico levantou-se, impaciente:
- Já sei. O mau é que esta filosofia de «três, um vintém» não resolve nada e acabamos como os filósofos que constroem universos e morrem à míngua. Vamos andando!
Maria Leonor levantou-se também. Já perto do poço, gritou para os pequenos:
- Desçam o valado e vão até ao meloal!
As crianças saudaram a ideia com gritos de alegria, e, de mãos dadas, deitaram a correr pelo pomar fora, sob os verdes ramos espinhosos das romãzeiras. Ao fundo, desapareceram num salto, encobertas pelo valado.
- O que hei-de fazer, então?
Lado a lado, roçando os ombros onde o caminho se estreitava, confundindo no chão as duas sombras numa só, os, dois seguiram as pegadas das crianças.
- Posta de lado, por absurda e por falta da machadinha de sílex, a ideia de lhe cortar o fio da existência, podes, por exemplo, despedi-la...
Maria Leonor teve um gesto de violenta recusa. E foi clara:
- Isso não!
- Essa agora! Mas porquê?
- Não posso. Para onde iria ela?
O médico parou no meio do caminho, boquiaberto. E, arrancando-se de surpresa, analisou:
- Vocês, mulheres, são extraordinárias! Aqui estás tu, que detestas a Benedita e que recusas pô-la na rua com a grande razão de que a pobrezinha não teria para onde ir!...
É de magnânimo!
- De que é não sei! O que importa é que não o poderia fazer. O meu sofrimento seria maior.
Viegas considerou:
- Sem contar que ela podia abandonar o seu processo silencioso e vingar-se como toda a gente, num caso destes falando.
- Sei que não o faria. Conheço-a o suficiente para saber que o não faria! E isso seria, justamente, o pior...
Chegavam ao valado. Viegas deu a mão a Maria Leonor para descer. Deram uma ligeira corrida no declive, até ao carreiro que serpeava entre a erva, direito às ramagens rasteiras do meloal.
Dirigiram-se para lá, Viegas à frente e Maria Leonor alguns passos atrás, pensativa e silênciosa.
Em Viegas, adivinhava-se uma hesitação quando respondeu, daí a pouco:
- Então, só te restam duas soluções! - e continuou:
- Uma, é aguentar tudo, como até aqui!...
De trás, veio uma exclamação de desespero, e logo a seguir um murmúrio trémulo e pávido:
- É impossível...
Os largos ombros de Viegas soergueram-se, concordando:
- A outra já não é de agora e até já foi posta de parte por motivos que, no fim de contas, talvez não valham nada...
Casares comigo.
Não pararam. Não houve gestos nem interjeições. Dir-se-ia que ambos esperavam aquele remate e o aceitavam tal como era, sem discussões inúteis, como aceitariam o inevitável.
Apenas, quase ao chegarem à borda do meloal, Viegas levantou os braços, invocando, e declamou, voltando-se para Maria Leonor:
- Ó vida simples e natural do homem das cavernas, por onde andarás tu, que tanta falta me fazes?
Ela sorriu-se, abanou a cabeça e disse:
- Continuamos sem solução, doutor!
- Achas?!
- É tudo tão confuso, tão complicado... Como posso aceitar a sua solução, que não é outra coisa senão um sacrifício para si? E que direito tenho de lhe estragar a vida?
Basta que a minha o esteja.
A resistência impacientou-o:
- Creio que nunca homem algum fez uma proposta de casamento como eu faço... A situação é, de facto, estranha, quase absurda, mas a verdade é que fomos empurrados para ela por uma mão invisível e poderosa, que não nos deixa outra saída. Haverá mal em experimentar? De resto, tu não precisas de um marido...
Um brilho fugidio no olhar de Maria Leonor fê-lo calar-se, embaraçado. E teve medo. Murmurou algumas palavras, que ela não percebeu, e rematou:
- Não vejo outra solução... Se encontrares melhor, diz-me...
Acobardava-se. Os mesmos pensamentos que o tinham perturbado após a primeira vez que falara de casamento a Maria Leonor, voltavam agora, obcecadores e teimosos. A idade, o temperamento dela, aquela exaltação nervosa de que ele bem conhecia a causa...
Quando chegaram junto das crianças, iam outra vez a par, silenciosos e aborrecidos, roçando ainda os ombros, mas sem a intimidade e a confiança de há pouco.
Sentados na terra dura, os pequenos enterravam os dentes no miolo macio e sumarento de uma melancia, rindo ao sentirem o sumo correr-lhes pelo pescoço abaixo até ao peito. E todos tinham já melancia nos fatos e nas pernas nuas.
- Ora que asseados que os meninos estão! - começou Maria Leonor.
Mas logo Dionísio explicou, sem sombra de receio:
- Desculpe, mãezinha, mas estávamos a ensinar o João a comer melancia!...
E exemplificava, enfiando pela boca dentro a parte que lhe coubera do castelo. João, um pouco timidamente, repetiu o gesto. Só Júlia teve que dividir a operação ao meio, já quase engasgada. Acabaram todos por sorrir e Maria Leonor esqueceu o ralho.
Enquanto os garotos corriam a lavar as mãos e a cara numa pipa cheia das águas da chuva, Maria Leonor ofereceu:
- Quer uma talhada, doutor?
- Não, obrigado! Prefiro as minhas. Desculpas, sim?
- Ora essa! - e calou-se, amuada.
Ao lado, depois de limpos do sumo pegajoso do fruto, os dois rapazes conversavam. E Dionísio, mostrando o rio, que dali mal se divisava por entre a ramaria dos salgueiros, ia dizendo:
- Olha, acolá, fica o rio. Depois de se passar aquele choupo mais alto, há um freixo cortado. Preso ao freixo há um barco: amanhã, logo de manhãzinha, vamos pescar para ali...
Júlia, com a face gotejando de água, aproximou-se: queria saber o que estavam eles a combinar, assim, tão em segredo...
O irmão retorquiu, superior:
- Não é contigo. São conversas de homens!...
Júlia explodiu logo: não era com ela? Mas quando o João não estava, era tudo com ela! E a Júlia ia à pesca, ia caçar gafanhotos, ia... Aqui, não pôde mais, e rompeu num choro desabalado.
Viegas sorriu:
- Ora cá estão os inevitáveis ciúmes!
Olhou para o sobrinho e disse-lhe com um sorriso bonacheirão e bem-disposto:
- Vê tu o que arranjaste. Vá, anda, faz qualquer coisa...
João chegou-se para a pequena, que se sentara ao acaso num monte de melões, e ajoelhou-se-lhe ao lado. Tirou-lhe as mãos do rosto e disse, muito sério:
- Então, Júlia, não chores! Nós estávamos a combinar ir à pesca amanhã, mas tu também vais... - e acrescentou, resoluto: - Olha que, se choras, digo à tua mãezinha que me vou embora: não quero que vocês se zanguem por minha causa.
Júlia limpou o rosto molhado e os olhos, e respondeu, ainda com uns restos de soluços na voz:
- Não, não te vás embora! Eu, amanhã, vou com vocês, sim?
- Pois claro. Nem eu iria...
Ela desceu abaixo dos melões. Quando compunha as saias, deu de cara com o irmão, que a olhava de través. Atirou-lhe:
- Ruinzão!
Viegas deu uma gargalhada. Empurrou Dionísio para o lado dos outros dois:
- Ora tenham juízo, meus patetas! Sigam lá adiante.
Voltavam para casa, agora mais devagar, porque o Sol, já quase no meio-dia, aquecera, liberto das névoas da manhã.
Tornaram a atravessar o prado, onde se erguiam figueiras-do-inferno, abrindo os seus frutos negros e espinhosos.
As crianças tinham largado a correr para o valado e desaparecido, encobertas pelas árvores do pomar.
- Estes, como estão mais perto das cavernas, ainda resolvem as suas questões com facilidade. Já não se socorrem do machadinho de sílex, mas ainda se esgatanham e descompõem. Como, no fim de contas, não há morte de homem, acabam por se reconciliar!
- Devo eu, também, procurar uma reconciliação?
- Não, não digo tanto! As coisas já vão tão longe, que seria uma humilhação para ti, e sem qualquer proveito.
- Então?
- Então, já te disse...
Novamente se deteve. Sentia que se afundava, que não tinha mão em si, de modo a calar aquilo que mais temia dizer. Enfiou as mãos nas algibeiras, irritado, e estugou o passo, obrigando Maria Leonor a dar ligeiras corridas para conseguir acompanhá-lo.
Chegaram assim a casa, com as crianças ao lado cansadas da correria e da brincadeira. Quando entraram, veio-lhes ao encontro Teresa, que logo deu a notícia:
- A Benedita já se levantou, minha senhora.
- Ah, sim?! - fez Leonor.
Viegas resmungou, enquanto limpava as botas de lama:
- Vai começar a festa...
- Disse alguma coisa, doutor?
- Disse. Disse que aceitava o almoço de bom grado, se mo oferecesses!
Com um sorriso magoado, Maria Leonor respondeu:
- Nesta casa, até os inimigos comem - e vendo que as crianças se espalhavam já pela casa fora, avisou: - Tratem de subir para mudar de fato. Não podem ir para a mesa nesse estado.
Enquanto elas cumpriam a ordem, perguntou à criada:
- Onde está a Benedita?
- Na sala de jantar, a pôr a mesa para o almoço, minha senhora. E eu, se me dá licença, volto para a cozinha...
- Vai, sim! E diz à Joana que apresse o almoço.
- Pois sim, minha senhora!
Depois de Teresa sair, ficaram apenas, na sala de entrada, os dois. E Maria Leonor, com um lento suspiro, murmurou:
- Venha comigo...
Viegas deu-lhe o braço e, ao notar que a mão dela tremia, não pôde reprimir o espanto:
- Como tu a receias!...
- Não é a ela que eu temo - respondeu Maria Leonor, apoiando-se-lhe ao ombro.
– É ao seu silêncio, ao seu aspecto esfíngico e severo, à sua máscara de cera, que não deixa transparecer um pensamento sequer!...
Voltou-se de súbito para o médico e, prendendo-lhe as mãos nas suas, acrescentou, como se o que ia dizer apenas naquele instante lhe ocorresse:
- Não, não é a ela que eu temo. É a mim! Parece-me que ela não é mais que um desdobramento da minha personalidade, uma outra Maria Leonor, que se vestiu de modo diferente e que pôs uma máscara para que eu não a conheça. E agora penso se a verdadeira Benedita não voltará um dia, como eu a conheci, amiga e boa, quase irmã...
Viegas, que a olhava com inquietação, sacudiu-a.
- Leonor, que é isso? Estás a divagar, minha tonta!...
Vamos, sossega! Vem almoçar.
Maquinalmente, Maria Leonor apoiou o braço no de Viegas. Levava os olhos no chão, mas ao chegar à porta da sala de jantar ergueu-os. Teve um movimento de recuo, que o médico reprimiu no último instante. Benedita estava lá dentro, compondo flores na jarra do centro da mesa.
Ao vê-los entrar, largou o ramo e saudou:
- Bom dia, minha senhora! Bom dia, senhor doutor!
Maria Leonor não respondeu. Deixou o braço do médico e foi sentar-se no canapé, defronte da janela aberta.
Viegas foi expansivo:
- Bom dia. Então, isso vai melhor?
- Ah, estou boa! O comprimido que me deu fez-me bem...
- Óptimo!
Deixou Benedita e veio sentar-se ao lado de Maria Leonor. A criada continuou junto da mesa, compondo o serviço.
O médico chamou o cão e começou a puxar-lhe as orelhas e a segurá-lo entre os joelhos. Quando o animal rosnava, de zangado, dava-lhe safanões amigáveis na cabeça e fazia-o rolar no soalho.
Maria Leonor olhava de revés para a brincadeira. E sentia-se infeliz por ver a alegria que o cão irradiava quando, depois de rebolar pelo chão, investia de novo, de goela aberta, para o dono.
Num momento em que o animal passou ao seu alcance deu-lhe um empurrão mal-humorado. O cão olhou para ela, surpreendido, e farejou-a de longe.
Viegas sorriu-se, complacente:
- Ora não me dirás que mal te fez o cão?
Ela, com o queixo apoiado na mão cerrada, não deu resposta. Limitou-se a olhar para Viegas e a encolher os ombros.
O médico ia chamar o perdigueiro e recomeçar a brincadeira, quando se ouviu um ruído de pés correndo pela escada abaixo. O cão ergueu a cabeça, precipitou-se para a porta, latindo, e quase se foi embrulhar com as crianças que entravam.
Os dois irmãos foram logo direitos à mesa. Só João se deteve à entrada, um pouco embaraçado com a presença de Benedita, que ainda não conhecia. Vendo-lhe a hesitação, Maria Leonor teve um largo gesto de indiferença e disse:
- Entre, João! É Benedita...
O pequeno corou e olhou para a criada, que empalidecera. Benedita fez um gesto na direcção da ama, mas conteve-se e voltou ao trabalho.
Maria Leonor sorria, impudentemente vitoriosa. Entre tanta gente, sentia-se segura e protegida para atirar aqueles inofensivos dardos, ainda que soubesse quão cara lhe viria a custar a satisfação destes momentos:
Viegas murmurou, do lado:
- Tem cuidado...
Com um brusco e desdenhoso movimento de ombros, replicou:
- Ora, que importa?
Disse-o em voz alta, de modo que a criada ouvisse. Benedita, num gesto violento, atirou um prato sobre a mesa e saiu de rompante.
Enquanto as crianças se debruçavam da sacada para a quinta e Dionísio gritava qualquer coisa para baixo, para o Sabino, Viegas perguntou:
- Por que diabo não hás-de tu guardar um meio-termo razoável? Ora a receias como uma criança se apavora com a escuridão ora a afrontas como se não tivesses nada a temer! Seria preferível que tomasses uma atitude única e que a mantivesses.
- É isso, justamente, o mais difícil. Procedo ao sabor dos meus nervos: quase fujo dela se estou deprimida ou calma, mas, se me excito, sinto-me capaz de defrontá-la toda a vida numa luta de todos os dias, num ódio de todas as horas!...
- após um momento de silêncio, acrescentou: - Utilizando a velha frase, tenho a coragem da minha cobardia!
Calou-se. As crianças voltavam para dentro e, no mesmo instante, Benedita aparecia à porta, com uma terrina fumegante nas mãos.
Levantaram-se e foram para a mesa. A criada começou a servir a sopa e logo Dionísio, depois de espreitar para dentro da terrina, anunciou:
- É de pato!
Júlia, da ponta da mesa, quis saber se era o seu patinho branco. E tinha já lágrimas nos olhos quando Benedita a sossegou:
- Não é do patinho branco, menina!
- Ah! - e deu um suspiro de alívio.
Inclinou-se para o lado, para João, e começou a contar-lhe a atribulada história daquele patinho branco, que nascera coxo e que ela alimentava como se fosse a mãe pata. O patinho, coitado, não podia correr tanto como os outros, e quando chegava à comida só encontrava restos. De maneira que era ela quem o tratava...
No outro extremo da mesa, a mãe e Viegas sorriam àquele idílio. Depois fitaram-se confundidos, conscientes da estranha atmosfera familiar que parecia encher a sala, unindo-os todos sobre a toalha branca.
Mas já Dionísio, do seu lugar, quebrava o encanto, chamando:
- Mãezinha!
Maria Leonor ergueu a cabeça, que baixara para o prato:
- Que é?
- A mãezinha dá licença que vamos amanhã, cedinho, à pesca, com o Sabino?
- Para onde querem vocês ir?
- Para o Paul...
Maria Leonor franziu os lábios:
- Para o Paul, não, que é perigoso... Vão antes para o barco. Ou vocês já o afundaram?
- Deixa-os ir para o Paul - interveio Viegas. - Depois da pesca vão almoçar a minha casa. Que dizem vocês?
O convite foi acolhido com entusiasmo pelas crianças, que logo entraram de combinar o passeio, o número de linhas de pesca, todos os apetrechos para a expedição.
Maria Leonor e o médico ficaram, de novo, quase isolados, no fundo da mesa. Benedita saíra. E subtilmente, com passos de veludo, passou entre os dois a mesma sensação de intimidade conjugal que há pouco os confundira. Maria Leonor olhou para Viegas com uma curiosidade disfarçada, percorrendo-lhe as mãos nodosas e fortes, os ombros grossos, um tanto abaulados, os cabelos grisalhos e despenteados.
Demorou o olhar no rosto do médico, interessada nas rugas fundas que lhe vincavam a testa. E teve um arrepio quando ele levantou a cabeça e a olhou com a mesma expressão de curiosidade. Ambos, naquele momento, sentiram o que devem ter experimentado o primeiro homem e a primeira mulher no momento da revelação do sexo, quando as diferenças físicas se patentearam e o instinto deu o primeiro alarme, ateando nas veias o fogo desconhecido.
Ambos coraram e desviaram o olhar. O médico remexeu-se, inquieto, na cadeira, e obrigou-se a intervir na conversa ruidosa dos garotos. Maria Leonor baixou a cabeça, sorvendo a sopa em lentas colheradas, silênciosa, com os olhos pregados na toalha.
O almoço continuou e acabou em silêncio. Depois de retirado o último prato, Maria Leonor disse para Benedita:
- Serve o café no escritório.
A criada teve um relancear de surpresa, mas respondeu:
- Sim, minha senhora!
Saiu, enquanto Maria Leonor, cruzando as mãos sobre a mesa, dava graças. Do outro extremo, João, já levantado, abria uns grandes olhos espantados para a cena. E vendo os seus dois jovens amigos, silenciosos e graves, de cabeça baixa, murmurando palavras incompreensíveis, deixou pender, também, a testa, confuso, sem saber o que fazer. Viegas olhava para ele com um sorriso compreensivo e doce, que o sobrinho viu e compreendeu: era um mundo diferente, aquele, com outras regras e outras leis, um mundo que para o mesmo fim seguia um caminho diverso do seu.
Acabadas as orações, Maria Leonor levantou-se. Ergueram-se todos e saíram da sala de jantar. Viegas, ao lado dela, ia perguntando:
- Por que dás tu, ainda, as graças? Já não é tempo.
É sempre tempo de agradecer seja o que for. Quanto ao motivo por que o faço, nem sei! Hábito, não, com certeza, quando era solteira, em casa dos meus pais não se agradecia o pão a Deus, tal como se não censurava o diabo pelas dificuldades. Devoção, sei lá!... Bem sabe que não sou devota, mas... quem pode dizer que sabe o que é?
Dou-as, talvez, porque minha mãe, depois da morte do meu pai, introduziu em casa esse uso. De resto, obrigou-me a abandonar as ideias dele e a passar a ter as suas, que durante tantos anos escondera. O que eu resisti, Santo Deus! De qualquer modo, não sei... É tudo tão confuso!
Começaram a subir a escada. As crianças já lá iam em cima, tagarelando sempre. Enquanto subia devagar, quase parando em cada degrau, Viegas foi respondendo:
- Depende do ponto de vista. A confusão e a clareza não existem. Uma questão nem é clara nem é confusa: é uma questão, e nada mais. No teu caso, se tudo se apresenta confuso, não é o tudo que tem a culpa, és tu. Verdadeiramente crente ou verdadeiramente descrente, a clareza e a confusão não existiriam para ti...
Maria Leonor encostou-se à parede e respondeu:
- Vê-se bem que no seu espírito nunca apareceram dúvidas!
- Dúvidas? Ai, tenho tido muitas...
- Dúvidas religiosas?!...
- Ah, isso não! Dúvidas sérias, depois da adolescência, não! Nunca dentro de mim houve tais guerras santas! Às vezes um ligeiro prurido, que provoca uma ainda mais ligeira escaramuça, que não pode ser considerada dúvida... Coisas de somenos importância. Em tal matéria, creio que sou um homem definitivo!
Recomeçaram a subir. E Maria Leonor teve um sorriso breve, que mal lhe entreabriu os lábios:
- E noutras matérias?
- É o jogo do gato e do rato que me propões, não?!
Pois estou pronto a aceitá-lo, mas só depois de saber o papel que me cabe. O de gato ou o de rato?
Chegavam ao patamar e, aí, pararam de novo.
- Não o que lhe caberia, naturalmente, pelo direito da força - respondeu ela. - O papel de gato não é para nenhum de nós...
Entravam agora no corredor largo e penumbroso. Adiante, do lado esquerdo, era o quarto de Maria Leonor. A porta estava meio aberta e pela larga fenda via-se, ao fundo, o leito claro, onde um raio de Sol se espreguiçava. Havia lá dentro o perfume casto da mulher só.
A sugestão era tão forte e vinha tanto ao encontro dos seus pensamentos, que ambos quase pararam. E Viegas perguntou, depois de um último olhar para o quarto:
- Então, aceitas?
- Aceito - respondeu Maria Leonor, num sopro que se perdeu na garganta entumecida e entre os dentes cerrados.
Entraram no escritório. Viegas dirigiu-se para a secretária. Atirou-se para cima do cadeirão negro, puxou um livro e abriu-o distraidamente.
Maria Leonor foi sentar-se também numa cadeira baixa, virada para a porta.
Daí a momentos entrou Benedita com a bandeja do café. Teve um ligeiro movimento de recuo, como se tivesse surpreendido uma cena íntima, mas logo serenou:
- Aqui tem o café, minha senhora! - e pousou a bandeja sobre uma mesa.
- Deixa ficar que eu sirvo - disse Maria Leonor. - E olha, chama os meninos para que venham. Devem estar num dos quartos, aí dentro...
- Sim, minha senhora, direi que venham.
Ia sair. Mas já entre os umbrais da porta, ainda acrescentou:
- E depressa...
Era a mesma cena da outra tarde. Menos violenta, com certeza, mas a mesma.
Maria Leonor ergueu-se rapidamente e saía já atrás da criada, quando Viegas a chamou:
- Que vais tu fazer?
Ela voltou-se, trémula:
- Como é que ela soube?
- Ela não soube nada. Tem o faro amoroso das solteironas, apenas...
Maria Leonor voltou para a cadeira e, depois de um fundo suspiro, perguntou:
- Vê como eu tinha razão quando lhe dizia que não posso esconder nada? Até isto, agora...
Um barulho de passos, no corredor, interrompeu-a. Eram as crianças que vinham. Levantou-se e começou a servir o café.
No dia seguinte, de manhã, quando a luz tinha ainda um colorido cinzento, os quatro pequenos largaram da Quinta, a caminho do Paul. Com as linhas de pesca enroladas em torno das canas postas ao ombro, à laia de pampilhosa, os três rapazes, de saquitel preso nos cintos, pareciam vagos campinos que tivessem perdido os cavalos. Júlia carregava os chapéus de palha com que haviam de defender-se do Sol, quando a manhã fosse alta e o calor apertasse.
À frente, caminhava, com o desprendimento de quem está na intimidade das coisas, o neto do abegão, o Sabino. Descalço, palmilhava o carreiro húmido do orvalho da noite, abrindo e fechando como lâminas de tesouras as pernas morenas, num ritmo seguro e rápido. Logo a seguir ia Dionísio, rolando a cana sobre o ombro, muito seguro de si, marcando o passo pelo do Sabino. Atrás, João, pouco habituado àquele andamento de galga-côvados e sempre com os olhos alerta, presos nas árvores e nos muros, o nariz no ar aspirando a frescura subtil do amanhecer, distanciava-se um pouco.
Da frente, Sabino avisou:
- Temos que chegar ao Paul antes do sol-fora, senão depois não pescamos nada!...
No céu brilhavam já grandes riscos rosados, todos apontando o lugar donde surgira o Sol. Pareciam fios luminosos com que, do outro lado, a noite, que partia, fosse arrastando o dia, que chegava, e eram apenas nuvens esfiampadas, que se desfaziam nas alturas, ao ventar da brisa.
Cá em baixo, pelo carreiro torcido, por entre os altos choupos de tronco branco e ramos esguios, folhados de corações verdes até ao cimo, os garotos alargavam o passo, olhando para trás de vez em quando, a ver se o Sol já apontava.
Perto do rio, subiram uma pequena encosta e, lá no alto, ao chegarem à crista, ficaram envoltos na transparência rosada da luz que naquele momento inundava tudo, enchendo o campo de uma claridade irreal.
Ao fundo do declive, uma faia, embrulhada na sua folhagem revestida de veludo branco, pareceu estremecer. Um arrepio percorreu-a toda desde as raízes até à folha mais alta.
Ficou assim, um instante, extática, quase a desprender-se do chão, como se todas as suas fibras vibrassem entre os dois apelos mudos do céu e da terra.
João, voltado para a rosa vermelha do Sol, exclamou:
- Que bonito!
Mas Sabino, já entre a ramaria dos salgueiros, chamava, com a indiferença dos seus catorze anos criados dia a dia, desde o nascer ao pôr de milhares de sóis. Dionísio quase se atirou pela ribanceira abaixo. E Júlia teve de puxar pela manga da camisa do deslumbrado João:
- Vamos embora!
O pequeno lançou um último olhar por cima das copas das árvores até ao Sol, já todo fora do horizonte, grande, redondo, vermelho.
Da margem, vinham os gritos de chamada de Sabino e Dionísio. Ouvia-se a sonoridade líquida do bater dos remos na beira do barco. De mãos dadas, João e a sua pequena companheira correram para lá. Embarcaram de um salto, fazendo oscilar a proa da caçadeira, que afocinhou na água com um chape vagaroso e mole. Sabino deitou as mãos aos remos, mas Dionísio exigiu um para si. E os dois, sentados lado a lado no banco, as pernas retesadas, fincando os pés nas cavernas, acertaram o golpe:
- Um, dois, três!...
As pás mergulharam e empurraram a água, que foi redemoinhar na popa, num gargarejo confuso e borbulhante.
Nas duas margens do estreito rio erguiam-se longos freixos, que se iam fechar em cima, numa abóbada verde e rumorosa. Por entre as ramagens coavam-se feixes de luz.
- Deixe de remar agora, menino! - mandou Sabino.
Dionísio levantou o remo, que gotejava. Sabino fez a manobra e encostou o barco à margem, devagar. Agarrou-se a uma raiz de salgueiro que rompia da água, enquanto os outros saltavam. Preso o barco, todos treparam o valado, arranhando-se nas silvas. Do outro lado era o Paul.
- Vamos para a Vala Grande? - perguntou Dionísio.
Sabino coçou a cabeça, fazendo descair o barrete para a orelha esquerda. E respondeu:
- É muito funda!...
- Ora, nós temos cuidado!
- Prà Vala Grande não vou! - interveio Júlia. - Se lá caímos dentro, nunca mais nos encontram!
Dionísio teve um repelão de mau modo. Voltou-se para João, a pedir-lhe auxílio contra aquela teimosa, mas viu-o também com certo ar reprovativo, e rendeu-se.
- Vamos lá então para qualquer parte!
Sabino endireitou o barrete, aliviado, e meteram pé ao caminho.
Entre as longas hastes de bunho que os ultrapassavam em altura, procuraram o melhor sítio. O caminho era inçado de dificuldades. Por vezes, abria-se um buraco cheio de água negra e lodosa, onde as pernas se atascavam até aos joelhos.
As compridas raízes aquáticas enredavam-se nos pés e atrasavam a marcha.
João ia entusiasmado. As faces afogueadas, o olhar brilhante de aventura, atirava-se contra a resistência múltipla das plantas e rompia caminho a direito, numa imensa leveza de corpo e espírito.
Por fim, chegaram a uma vala larga e funda. Iam despenteados e sujos, mas erguiam ainda as canas de pesca, como troféus erectos para o céu, como se a terra já não bastasse para a contemplação das suas glórias.
Na sombra de um chorão, que mergulhava na água as pontas finas e verdes dos ramos, resolveram assentar arraiais.
Desenroladas as linhas e preparados os iscos, começaram a longa e paciente espera, que ia durar toda a manhã.
Entre gargalhadas de triunfo e exclamações de desapontamento, à beira da água sombria, no bunhal deserto onde zumbiam insectos e ressoavam estalidos de árvores secas, se passaram as horas. A pescaria foi pobre e, quando o Sol começou a aquecer, cessaram de todo aqueles súbitos mergulhos das bóias, que os punham num estado de excitação ansiosa, olhos esbugalhados, à espera do momento propício para o sacão brusco, que arrancaria atrás da linha a criatura aquática, cintilante e molhada, ou o anzol sem isco e sem peixe.
Por fim, com uma voz desolada, Sabino anunciou que os peixes não picariam mais. Dionísio concordou:
- Só por acaso!...
E como não podiam ficar à espera o dia inteiro que o acaso obrigasse umas guelras palpitantes a prenderem-se na armadilha, tiveram de dar-se por vencidos na batalha.
Júlia foi a encarregada de conduzir os poucos peixes.
E lentamente, deitando olhares cobiçosos para a vala, regressaram ao rio, sem dificuldade desta vez, pelo sulco aberto na vegetação, à ida. Quando chegaram ao barco e se preparavam para descer, Dionísio deu uma palmada na testa:
- Ai, que temos de ir ao Parreiral!
- É verdade! - lembraram os outros.
O meu avô precisa de mim.
Houve um «oh!» penalizado, mas logo Dionísio, prático, aproveitou para entregar ao rapaz as canas e os sacos. Após um momento de hesitação, deu-lhe também os peixes:
- Toma, são para o teu almoço.
Sabino agradeceu e saltou para o barco. Remou até ao meio do rio e, de lá, acenou um adeus com o barrete. Dionísio ainda gritou:
- Diz à minha mãe que nós fomos ao Parreiral!
Já na outra margem, Sabino respondeu um «sim, senhor!» e desapareceu no meio das árvores.
Os outros seguiram pela borda fora do rio, sob os ramos nodosos das figueiras-bravas, ajudando-se nos passos difíceis quando as sebes espinhosas lhes cortavam o caminho, ou quando, sobre um lodaçal crivado de pegadas de gado, era preciso achar os lugares mais resistentes. Então soavam, no silêncio do campo, breves risos assustados, que se transformavam em expansões alegres e bulhentas, logo que era vencida a dificuldade.
A cada passo, debaixo dos pés, dentre a erva húmida e vigorosa, saltavam grossas rãs esverdeadas, que cambalhoteavam no ar e mergulhavam nadando entre duas águas, até aparecerem adiante, detrás dos limos, olhando para a margem, o peitilho branco a ofegar.
Para João, aquele espectáculo era um deslumbramento e, vezes sem conto, se deteve a olhar, na água baixa, os cardumes cerrados de girinos, que flectiam para um e outro lado como se fossem comandados por uma só vontade. Uma caçadeira que passou no rio, conduzida à vara pelo barqueiro, abrindo com a proa chata largas ondulações que escorregavam pelo casco, fê-lo parar, embevecido. E na contemplação mal respondeu à saudação do homem.
Os dois irmãos, calejados de mais para aquelas emoções, acabaram por perguntar se nunca saíra de Lisboa. João, um tanto embaraçado, respondeu:
- Saí. Mas ia quase sempre para a praia...
- Praia! - admirou-se Júlia. - Que é isso de praia?
Dionísio esclareceu:
- Não te lembras de quando fomos a Lisboa e o paizinho nos levou num barquito até um sítio onde havia muita areia e muita gente? Até tomaste banho?! E vieste de lá a cuspir, porque a água era salgada?!
Júlia lembrou-se, de repente:
- Ah, já sei!... Então era para aí que tu ias?
- Pois era.
- E de que gostas mais? Disto - e indicava o rio e as árvores - ou da praia?
Os olhos de João brilharam quando respondeu:
- Gosto mais disto.
Calaram-se por momentos para trepar um tronco que lhes barrava o caminho. A margem baixava quase ao rés da água. Para trás tinha ficado o Paul com as longas lanças de bunho erectas e verdes, e os três caminhavam agora a par, por um campo largo e plano, que ia findar ao longe num renque longo e atarracado de salgueiros.
- E por que é que nunca vieste para cá?
- Para onde?
- Para aqui, para a casa do teu tio...
- O meu pai dizia que o tio Pedro vivia sozinho e que não me podia ter com ele.
Dionísio, parado, com o chapéu de palha erguido e os olhos pregados no chão, interrompeu:
- Caluda!
Logo a seguir atirou-se para o chão, ao mesmo tempo que gritava:
- Já está!
Mas quando espreitava sob a copa do chapéu, irrompeu de lá um seco revogar de asas, que se abriram, metros acima, em dois traços azuis. O gafanhoto fugira. Dionísio enfiou o chapéu, aborrecido:
- Tinha-o apanhado... Como é que se escapou?
- Levantaste o chapéu e querias que ele ficasse à espera, não? - respondeu Júlia.
- Eu não levantei o chapéu!
- Levantaste, sim senhor! Não sabes apanhar gafanhotos, é o que é...
- Ora! Lá se vê quem é que apanha mais...
- Pois sim, mas deixaste fugir este!
Estavam quase zangados. Providencialmente, do tronco oco de um freixo saiu naquele momento, com um grito assustado, uma poupa, que foi pousar ao longe, arrepiando as penas da cabeça.
E as explicações que tiveram de dar ao companheiro distraíram-nos da mais que provável discussão.
Chegaram, enfim, à ponte.
- Falta muito para a casa do tio Pedro?
- Não. É ali onde estão aqueles marmeleiros.
Debaixo do Sol, àquela hora quente, sem a beleza infantil do nascer, os garotos apressaram o passo, ao longo da maracha. Por entre as árvores vinha o fungar de um rebanho de ovelhas, deitadas nas sombras.
Quando chegaram à entrada do Parreiral espreitaram para dentro e Dionísio gritou:
- Cá estamos!
Ao aviso, Viegas, em mangas de camisa, assomou à janela do andar superior da casa. E logo se debruçou, risonho, exclamando:
- Toquem todas as trombetas do castelo, abram alas as parreiras que deram nome a esta casa, suba no mastro o pendão, que chegam os reis da brincadeira!
Diante daquela recepção tão calorosa e divertida, as crianças entreolharam-se, sorridentes. Mas o médico continuava:
- Entrem! Mas previno-os de que, se querem comer, têm de o trazer!
Os garotos riram-se e, numa corrida, precipitaram-se de roldão em casa. O perdigueiro, que os viera receber à porta, atraído pelo barulho, começou a saltar à roda deles, latindo para exprimir a sua canina alegria. Logo atrás apareceu Viegas, ainda risonho:
- Então, essa famosa pescaria? Olhem que, se não trazem peixe, não comem!
Dionísio explicou: os peixes eram poucos...
- Já sei: os peixes eram poucos e os anzóis eram muitos, de modo que eu tenho de vos dar almoço.
Foi até ao corrimão da escada e gritou:
- Tomé, ó Tomé!..
De cima veio uma voz pachorrenta e descansada:
- Senhor doutor!...
- Põe-me esse almoço na mesa!
- Quatro? - tomou a voz.
- Sim, quatro! - virou-se para os pequenos: - Vamos!
Tratem de lavar essas mãos imundas para irem almoçar. De caminho, mostro-te a casa, João!
Deram uma rápida volta pela horta, foram à cavalariça, e regressaram a casa, à pressa, aguilhoados pelo calor e pela fome!
Quando se sentaram à mesa batia o meio-dia no velho relógio de parede da sala de jantar. Ao engolirem as primeiras colheradas, Júlia deteve-se e deitou um olhar inquieto para o irmão. Viegas, que surpreendera o gesto, sorriu e perguntou:
- Que é, Júlia?
A pequena corou e respondeu, gaguejando:
- Não é nada, senhor doutor... - fez um esforço tremendo e decidiu-se: - As graças...
Dionísio deixou cair a colher sobre o prato e corou também. Ficaram todos perturbados a olhar-se, até que Viegas, pousando a colher sobre a toalha, disse, devagar:
- Pois que se dêem as graças. Tu, Dionísio.
O pequeno começou um gesto de recusa, mas depois, muito sério, em voz baixa, pronunciou as palavras tradicionais. Tomé, que entrava naquele momento com um galheteiro, parou no limiar da porta, estupefacto. Ia falar, mas Viegas fez-lhe sinal e ele aguardou, sem se mexer, que as graças fossem dadas. Depois começou o almoço. E, durante todo ele, houve, a par da natural satisfação, uma leve atmosfera de religiosidade, que apenas o espírito agudo do médico pressentia.
Quando a refeição acabou, repetiu-se a cena. Tomé, desta vez, não se conteve e largou a andar de um lado para o outro, mexendo nos pratos, abrindo e fechando armários, fazendo todo o barulho que podia. E Viegas não pôde deixar de pensar na serenidade impassível da fé e no esbracejar violento da descrença, ambos inúteis diante do Eterno Ignorado, seja ele, afinal, um Deus, uma Lei ou o Nada.
Com um encolher de ombros levantou-se, quase esquecido da presença das crianças, e olhou o seu velho relógio, enquanto pensava: «Este, tem corda para quinze dias e sou eu quem lha dá. A minha corda dura há cinquenta e cinco anos, e quem é que ma deu, afinal de contas?..»
Fez meia volta e resmungou:
- Metafísica!..
Foi para junto das crianças, que se debruçavam da janela a ver o campo e disse:
- Que tal se fôssemos ver o santo da terra?! Um passeiozinho de charrette com este calor não é agradável, mas não se perdia o tempo...
João surpreendeu-se:
- O santo da terra! Quem é o santo da terra, tio?
- É o nosso padre Cristiano - respondeu Viegas. - Um homem cujo único defeito é saber teologia e latim. Vamos, então?
Os pequenos correram a buscar os chapéus e, daí a momentos, já estavam à porta, impacientes. Daí a pouco, chegou Tomé, trazendo a égua atrelada à charrette. Com uma pequena vénia, Viegas exclamou:
- Primeiro, as damas! Quer a dona Júlia dar-me a honra de escolher o lugar que mais lhe agrade?
Com um riso feliz, Júlia saltou para a charrette e foi sentar-se no banco da frente. O médico subiu atrás dela e os dois rapazes instalaram-se atrás.
- Ora, então, vamos lá! Segurem-se bem que isto vai ser uma galopada como vocês nunca viram!
Afagou com a ponta do chicote as ancas da égua, mantendo-a segura enquanto desciam a pequena alameda, mas, logo que chegou ao caminho dos marmeleiros, deixou-a trotar à vontade. Num ápice, atingiram o rio. Quando iam atravessar, duas mulheres que lavavam roupa mais abaixo queixaram-se:
- Ai, senhor doutor, que nos vai sujar a água toda!
- Tenham paciência, santinhas, por que não passam vocês para o lado de cima?
Com um resmungo sufocado de protesto, as mulheres acarretaram as tripeças e os alguidares para onde Viegas indicara.
O médico agitou as rédeas e a charrette atravessou o rio.
- Vamos fazer uma entrada triunfal em Miranda!
Passaram as primeiras casas da aldeia num galope desenfreado. As galinhas, que debicavam na estrada, fugiram espavoridas, batendo as asas quase debaixo das patas da égua. Quando chegaram à praça, Viegas moderou o andamento e, com o chicote dobrado, foi cumprimentando, aqui e ali, os conhecidos, que arregalavam olhares de curiosidade para o sobrinho.
No fim da rua cortaram para a esquerda, para um pequeno largo, onde uma oliveira enchia de sombra a frontaria da casa térrea em que morava o padre. Viegas fez estacar a égua com um «hoo!» prolongado. Prendeu as rédeas no travão e saltou. Foi empurrar a porta, chamando:
- Ó da casa! Ó padre Cristiano! Visitas!...
Ninguém respondeu. E o médico ia insistir, quando, duma casa ao lado, uma mulher espreitou pelo postigo, a informar:
- Não está, senhor doutor!
- Onde foi?
- Deixou dito que ia para a igreja e que, se alguém o procurasse, lá o encontraria.
Viegas murmurou um «obrigado!» e voltou para a charrette. Enquanto fazia voltar a cabeça da égua, disse para Júlia:
- Que demónio iria fazer aquele homem, a esta hora, para a igreja?
A pequena deitou-lhe um olhar de censura perante tão sacrílega mistura e encolheu os ombros. Num passo mais lento, refizeram o caminho, pela rua esbraseada e deserta, onde o macadame era uma longa passadeira em que o Sol reverberava duramente. Chegados diante do adro, apearam-se. Viegas levou o animal para a sombra das árvores. A porta grande da igreja estava fechada.
Vamos pela portinha do lado.
Com as crianças atrás de si, empurrou a porta, apenas encostada, e espreitou.
De dentro não vinha qualquer ruído. Viegas, tirando o largo chapéu de feltro desabado, entrou. Enquanto corria a vista pela igreja, os três pequenos entraram também. João ficou ao lado do tio, acanhado e silencioso, olhando os outros dois, que, voltados para o altar-mor, se benziam.
- Onde estará ele? - murmurou Viegas.
A voz ressoou-lhe estranhamente na clara frescura da igreja e ficou a vibrar num eco que se repercutiu mil vezes, entre as grossas colunas quadradas de pedra, até ao tecto de madeira escura. Deu um passo enervado para o meio da igreja e dali viu, então, a cabeça branca do padre erguer-se por detrás de um altar, onde S. Sebastião arfava o corpo dolorido e sangrento, crivado de flechas negras.
O padre tinha um pano na mão, com que acabara de limpar os dourados do altar. Curvado e trémulo, veio pela nave, com as mãos estendidas ao encontro do médico.
- Há quanto tempo não entra nesta casa, doutor?
Na sua voz havia uma doce ansiedade. Fitava Viegas com um rebrilhar nos olhos apagados. O médico sorriu-se:
- Sei lá! Já lhe perdi o conto...
- É a conversão, desta vez?
O sorriso desapareceu dos lábios de Viegas e as rugas da face cavaram-se-lhe, mais fundas e amargas.
- Ainda não, meu caro padre! Tem de continuar à espera. E só os deuses sabem por quanto tempo ainda!
- Os deuses, não! Deus!
O médico encolheu os ombros, aborrecido, e respondeu:
- Como quiser. Mas o que aqui me trouxe foi o querer apresentar-lhe o meu sobrinho João, o filho do meu irmão Carlos...
Voltou-se para o pequeno, que, de mãos atrás das costas, contemplava, num quadro esmaecido, de vagas cores, a ressurreição de Jesus.
- João!
Fez as apresentações:
Padre Cristiano, eis o meu sobrinho... João, este senhor é que é o santo da terra, de que te falei, o homem cujo único defeito é saber teologia e latim.
O padre curvou-se para beijar o sobrinho do médico. Durante um momento, as duas cabeças ficaram unidas, confundidos os raros cabelos do padre com as madeixas revoltas de João. Depois, o sacerdote disse:
- Não acredite, João... Para santo, falta-me tudo, e tenho muitos mais defeitos que os que seu tio me atribui.
Fitou atentamente o garoto e murmurou:
- Pobre criança!
Viegas, num impulso quase rude, travou-lhe o braço:
- Isso não, padre Cristiano! Não tem esse direito. Que é que pretende?
O padre teve um sorriso. E respondeu:
- Não pretendo nada, bem vê! Saiu-me a frase sem pensar, instintivamente. Desculpe!...
Dionísio e a irmã puxavam o companheiro. E os três lá foram, pela igreja fora, parando diante dos altares, contemplando as feições imóveis e frias das imagens. Viegas serenara.
- Esse sestro de catequizar a torto e a direito vem-lhes de S. Pedro, não? É já quase uma segunda natureza... É claro que não se trata de uma questão de hereditariedade...
- Não discutamos, peço-lhe!
Ficaram ambos silenciosos, indispostos. Diante do altar-mor, Júlia gesticulava, voltada para João. Dionísio, de lado, assentia com leves meneios de cabeça. O rumor das vozes chegava aos ouvidos do padre e do médico, indistinto e confuso.
- Lá estão aqueles! - exclamou Viegas.
- Deixe-os lá! Não tem nada a recear!
- Isso sei eu. Mas irrita-me!
O padre voltou ao seu altar e recomeçou a limpar, desta vez, os pés manchados do santo.
- Então o padre Cristiano é quem faz agora esse serviço?
- Que quer? O Teófilo está doente, bem sabe...
O médico concordou:
- Aquele, está perdido. Tuberculoso... Uma doença para que não há milagres, nem médicos. É verdade, padre Cristiano, por que não há milagres que curem um tuberculoso?
O padre, formalizado, respondeu:
- Já alguns têm sido curados!
- Bom! Acha, então, que devo passar à reserva?
Sorriram ambos, desanuviados, e começaram a andar ao longo da fieira de colunas, discorrendo sobre a doença do sacristão. Quando chegaram debaixo do coro, Viegas estacou, de repente, como se um pensamento rápido lhe tivesse perpassado no cérebro, naquele instante. Olhou com atenção para Cristiano e depois chamou Dionísio.
- São quase três horas. Subam vocês à torre e mostrem o relógio ao João. Girem!
Quando os passos das crianças deixaram de ouvir-se na linha helicoidal da escada de pedra que, por dentro da torre, levava lá acima, Viegas olhou de novo para o padre, que aguardava, desconfiado. E lentamente, deixando cair as palavras uma a uma, pronunciou:
- Que diria se eu me casasse?
As brancas sobrancelhas do padre ergueram-se espantadas:
- O quê?
- Creio que fui claro. Que diria se eu me casasse?
O padre correu a mão pelo rosto, embaraçado. Viegas passeou o olhar por toda a igreja.
- Entre para ali! - e indicou o confessionário.
Vendo a expressão de magoada censura que se espalhava na face do padre,
tranquilizou-o:
- Garanto-lhe que não estou a brincar! E deve fazer-me a justiça de acreditar que as minhas convicções não me permitiriam tais brincadeiras!...
O padre curvou a cabeça e entrou no confessionário.
Viegas foi encostar-se ao ralo.
- Desculpe-me se não ajoelho, nem rezo as orações da circunstância, mas cheguei à conclusão desoladora de que todo o reumatismo articular da terra é devido a estas lajes frias. Quanto às orações, não me lembro se já as esqueci, se nunca as soube...
O silêncio da igreja abafou as últimas palavras. Era tão diferente aquela confissão, sem as compridas filas de penitentes aguardando a vez para o alívio dos pecados...
- Pois é mesmo assim! Creio que me vou casar.
Aguardou um momento e, como o padre não respondia, perguntou:
- Não diz nada? Não pergunta com quem?
Por entre os furos do ralo, veio a voz velada do padre:
- Um confessor não pergunta, meu amigo: ouve, apenas...
- Então, escute: vou casar... com a Maria Leonor.
Nem um único ruído saiu da escuridão do confessionário.
Não é o chamado amor que me leva a isto, bem deve compreender. Já não tenho idade para essas fantasias... Trata-se apenas de salvar a Leonor da loucura ou de pior ainda... Não lhe posso dizer os motivos que me levam a dar semelhante passo! São demasiadamente graves e creio até que não compreenderia, tão longe anda o seu espírito do conhecimento das misérias do mundo, do lodo nojento em que esbracejamos.
Baste-lhe apenas isto: há um motivo forte que me leva ao casamento. Não posso fugir!
Com um suspiro, o padre murmurou:
- Basta-me isso. Não vale a pena acrescentar seja o que for. O resto imagino eu.
Viegas precipitou-se para o ralo:
- Não pode imaginar!
De dentro, veio novamente a voz fatigada, exausta, do padre:
- Posso, sim... Eu sei, meu amigo. O meu espírito não anda tão longe das misérias humanas que não se aperceba delas. E, de resto, não é só o doutor que se confessa!...
- Quem lho disse?
- Ninguém. Perdoe-me a mentira, mas o segredo da confissão é tão forte como o seu segredo profissional, de médico... Basta, também, que lhe diga isto: não há muitos dias, ajoelhou-se, nesse mesmo lugar, uma mulher.
O padre levantou-se e abriu a porta do confessionário. Foi para o médico, que se deixara ficar no mesmo sítio, muito pálido, com grossas gotas de suor na testa enrugada, onde se empastavam os cabelos grisalhos.
Viegas fez um esforço para sorrir-se:
- Que penitência me dá? Que me aconselha?
O padre ergueu os olhos para o alto tecto da igreja e quedou-se em silêncio, aguardando. Depois, exclamou:
- Pois casem! E que Deus vos proteja!
Um pesado silêncio se sucedeu. Aquele desejo de protecção divina, expresso numa voz fervorosa, em que vibravam seguras notas de esperança, arrepiou Viegas.
Pelas vidraças das janelas que se rasgavam na frontaria da igreja entravam largos raios de Sol, que iluminavam o coro e vinham entornar-se no lajedo da nave. Dali, a luz reflectida subia para o tecto de castanho, negro dos anos e picado de caruncho, esverdeado de humidade nas pranchas onde se embebiam as colunas. E, conforme o Sol ia descendo, devagar, a larga mancha luminosa do chão escorregava docemente, deslizando para o altar-mor.
Como se respondesse a uma pergunta, o padre murmurou:
- Quando o Sol se põe, o altar é um deslumbramento.
A luz refulge em todos os cristais e a sombra da cruz projecta-se no fundo vermelho, muito grande, com os braços muito abertos!... As chagas do Senhor parecem mais doridas, escorrendo mais sangue e mais luz!
O médico deitou um olhar furtivo para o altar. O Sol ainda estava muito alto e o crucifixo era apenas uma mancha escura, onde se torcia um corpo branco, emaciado.
- É extraordinário o vosso poder de impressionar. E que hábeis foram os construtores da igreja ao orientar as janelas para o poente!... Há muita gente a essa hora para ver?
O padre abanou a cabeça com um ar compadecido e triste.
- Não, ninguém vem à igreja ao pôr do Sol. Essa é a hora em que a família se vai juntando debaixo do tecto do lar. Só eu é que venho até aqui. Não tenho família... - indicou a primeira coluna junto da porta grande e continuou:
- Ajoelho ali. E sempre que Deus é servido de iluminar o seu altar, assisto àquela glória...
Viegas sacudiu-se, pouco à vontade. Ia responder, mas, de súbito, a igreja encheu-se de sons de bronze, que pareciam despenhar-se do alto, em catadupas. Davam três horas no relógio. Depois da última pancada, o ar ficou a vibrar à passagem das derradeiras ondas sonoras que desciam.
No olhar que o padre deitou ao redor da igreja, sob o zumbido final dos sinos, Viegas surpreendeu uma tão profunda alegria que perguntou, quase sem querer:
- O padre Cristiano é feliz?
O velho abriu os olhos, admirado.
- Muito feliz. Disse que não tenho família, mas enganei-me! A minha família são todos os homens e todas as mulheres, o meu lar é a igreja de Cristo, é esta imensa casa cheia de luz e de sombras, onde tenho passado a minha vida... Como não hei-de ser feliz?
Deteve-se. Pela pequena porta da torre saíam as crianças, rindo, esfregando os ouvidos atordoados. Os dois amigos foram ao encontro delas, a alta e grossa figura do médico dominando o corpo trémulo e curvado do padre. Fizeram as despedidas.
Já no adro, enquanto Viegas e as crianças subiam para a charrette, o padre acenou-lhes um adeus. E quando a charrette desapareceu na curva da estrada, voltou para dentro da igreja, cerrando a porta atrás de si.
Quando Viegas e os pequenos se apeavam na Quinta, saía Benedita de casa. Logo Dionísio perguntou onde ia. A criada, que levava um saco sobre os ombros, respondeu:
- Vou à horta.
Prontificaram-se os três a acompanhá-la e a ajudá-la, se fosse preciso. Sem meio de recusar, Benedita acedeu, embora contrariada. E lá foram todos.
Viegas entrou sozinho, abanando a face afogueada com o chapéu. Parou no meio da sala, de ouvido à escuta, sem saber para onde ir. Foi à porta da casa de jantar e espreitou para dentro. A sala estava deserta e as janelas que deitavam para a Quinta fechadas. Uma fina réstia de luz entrava por uma frincha, cortando a penumbra como uma lâmina. Cerrou a porta e encaminhou-se para a escada. Ao pôr o pé no primeiro degrau, olhou para cima. Depois começou a subir, assobiando baixinho.
Chegando ao patamar, alongou a vista pelo corredor que servia o lado esquerdo da casa. Ia chamar, anunciar a sua presença, mas um indefinível sentimento de inquietação lhe susteve as palavras. O calor e o silêncio pareciam adensar a atmosfera e carregá-la de expectativa. As botas de Viegas rangeram de leve quando voltou para a direita. Adiante havia a claridade de uma porta aberta.
Adiantou-se, quase nas pontas dos pés. Era o quarto de Maria Leonor. No limiar parou, a olhar. Maria Leonor, de joelhos, de costas virada para a porta, arrumava roupa branca num gavetão da cómoda.
- Pode-se entrar?
Com um pequeno grito de susto, Maria Leonor voltou-se:
- Ah, é o doutor! Assustou-me... Entre.
Viegas deu alguns passos no quarto e foi encostar-se à esquina do móvel. Ela continuou ajoelhada.
- Então, os pequenos?..
- Foram para a horta com a Benedita.
Maria Leonor deitou um olhar rápido para a porta, que o médico, ao entrar, encostara.
- Divertiram-se?
Viegas deixou a cómoda e foi até à janela. De lá, respondeu:
- Creio que sim. Foram à pesca ao Paul, almoçaram lá em casa, e depois levei-os a Miranda para apresentar o João ao padre Cristiano...
Calou-se durante alguns segundos, olhando a nuca de Maria Leonor, que se dobrava sobre a gaveta. Os cabelos, em duas grossas madeixas, caíam-lhe aos lados do pescoço, deixando à mostra um pequeno triângulo de carne, de uma brancura de jaspe. Desviando o olhar, Viegas continuou:
- E, a propósito, lembro-me que tive com ele uma conversa muito interessante...
Sem se voltar, Maria Leonor respondeu:
- Com ele?!... Quem?
- Com o padre Cristiano, evidentemente.
- Posso saber do que trataram?
- Claro que podes. Tratámos da confissão!...
Voltou para a cómoda e, desta vez, ficou rente a Maria Leonor, que manteve a cabeça baixa, obstinadamente.
- De tal modo, que acabei por me confessar também, eu, Pedro Viegas, com fama e proveito de herege. Verdade seja dita, que a minha confissão foi a menos ortodoxa possível...
Com um empurrão brusco, Maria Leonor fechou a gaveta e levantou-se. Olhou o médico nos olhos, devassando-o.
- E que lhe disse?
A um palmo de distância, Viegas respondeu:
- O suficiente para conseguir para o nosso casamento as bênçãos da igreja!
- E não disse mais nada?
- Não - respondeu vagarosamente Viegas -, não foi necessário. Julguei compreender que o resto já alguém lho tinha dito. Enganei-me?
A resposta veio rápida e decidida:
-Não!
Viegas semicerrou os olhos numa contracção de todos os músculos da face e perguntou:
- Contaste tudo?
- Tudo!
- Porquê?
- Porque já não podia mais. Estava farta de sofrer, de chorar...
- E agora? Já não sofres?
Maria Leonor encolheu os ombros. Deu alguns passos sem destino no quarto e respondeu:
- Não sei, talvez sofra, sofro com certeza, mas sinto o espírito mais leve, mais lavado e desoprimido. Aquela confissão foi como um banho lustral, foi como se tivesse entregado a minha alma ao padre Cristiano e ele ma tivesse restituído depois, ainda manchada, sim, mas aliviada do tremendo peso dos meus pavores...
- Aliviada?!
- Não acredita, pois não?! Nem eu acredito, afinal. Palavras, palavras, e nada mais!
Teve um fatigado gesto de resignação e continuou, já com duas lágrimas a brilharem-lhe nos olhos:
- No fim, tudo continua na mesma...
Viegas foi para ela com os braços estendidos, as mãos abertas.
- Não, nem tudo continua na mesma! Vamos casar e isso há-de servir de alguma coisa. Ainda hei-de dar-te dias felizes!
Entre os braços que lhe rodeavam o tronco num largo amplexo, Maria Leonor chorou. E os dois ficaram assim, unidos, encostados, sentindo cada qual o corpo do outro, apenas separados pelos tecidos finos do vestuário.
Uma ligeira perturbação fê-los vacilar. A percepção do perigo que corriam despegou-os, assustados e trémulos. Nos olhos dela havia um brilho líquido que já não era de lágrimas. Os lábios, engrossados pelo nervosismo, tremiam-lhe.
Viegas estava muito pálido e respirava com força.
Num impulso irresistível, as mãos de ambos uniram-se. E, lentamente, foram-se aproximando de novo, tocando-se nos joelhos, corpo acima, até ficarem presos num beijo.
Na garganta dela arquejou um soluço. Os braços cruzaram-se com força na nuca de Viegas e dobrou-o todo sobre si. Recuou um passo, atordoada. As pernas
vergaram-se-lhe na beira do leito e caiu para trás.
Rolaram na cama, desesperados, perdidos.
- Não! - gemeu Maria Leonor.
O queixume perdeu-se no ofegar de ambos e no ruído seco da palha dos colchões.
Meia hora depois de ter deixado o médico à porta da casa, Benedita voltava da horta, às carreiras. Fora forçada a seguir os três garotos, que não a largaram enquanto correram todos os couvais, seguindo ao longo das regadeiras ainda húmidas, perdendo um tempo infinito debruçados no poço negro, onde, lá no fundo, se espelhava uma larga rodela de céu. Os risos finos e alegres das crianças, embasbacadas para o recorte das cabeças que boiavam na água, lá muito em baixo, impacientavam-na. Um sexto sentido avisava-a, aguilhoava-a para que saísse dali e voltasse para casa.
Mas depois, como João quisesse experimentar as forças a empurrar o longo braço da nora, obrigaram-na a ser juiz da competição, decidir qual fazia subir mais depressa os alcatruzes e despejava mais água no tanque, uma larga construção verdosa, envolta em avencas, com esguios fetos e maciços de sempre-noivas.
Benedita remoía um desespero nervoso e irritado. Por fim, deixou-os na ruidosa alegria com que empurravam, todos à uma, a nora, que estralejava içando caudais do poço.
Deitou a correr, curvando a cabeça ao passar debaixo dos ramos caídos da nogueira que assombreava o largo onde se afundara o poço. O lenço preto que levava nos ombros prendeu-se-lhe num espinheiro, e ela nem sequer olhou. O hortelão, ao vê-la naquela corrida, perguntou, entre duas enxadadas:
- Que levas tu, mulher?
A criada não respondeu. Continuou na correria desatinada, já ofegante, com o coração a pulsar-lhe desabaladamente no peito. Quando empurrou a cancela, feriu uma das mãos na farpa de um arame, mas nem sentiu a dor nem o calor do sangue. Parecia que era levada por uma força sobre-humana que a cegava e tornava insensível a tudo que não fosse o caminho que conduzia a casa.
Ao virar a esquina, parou um instante, arfando. Olhou pela alameda fora até à estrada deserta. Rente ao prédio, deu uma carreira, a ocultar-se debaixo do alpendre. E dali aproximou-se mais devagar, até chegar à porta. Entrou silenciosamente. Foi à sala de jantar, mas regressou logo, vendo-a deserta e escura. Correu todas as casas do rés-do-chão numa busca ansiosa, foi até à cozinha, onde surpreendeu Joana, que dormitava sobre a mesa enquanto as panelas chiavam.
Atirou a porta num repelão e correu para a escada. Ali, no momento em que ia precipitar-se, sentiu um arrepanhamento de medo e ficou largo tempo encostada ao corrimão, sem se atrever a subir.
Depois, numa decisão brusca, subiu a escada, à pressa, soerguendo as saias para não tropeçar. Ao chegar acima, endireitou logo ao corredor. Vendo fechada a porta do quarto da patroa, deitou as mãos ao puxador e, com um empurrão desesperado, fez saltar o trinco. A porta girou nos gonzos e foi embater na parede com um estrondo cavo que retumbou no quarto, que ecoou por toda a casa até se desfazer no silêncio morno e abafado da atmosfera.
Quando olhou para dentro, teve uma vertigem que a obrigou a apoiar as mãos trémulas, húmidas de suor, nas ombreiras da porta. Sobre a cama desfeita estava Maria Leonor, inerte, vermelha, descomposta. Os travesseiros caídos, a colcha arrastando no chão, um odor de sexo no ar...
Com um grito sufocado, Benedita recuou para a penumbra do corredor, com todo o sangue nas faces abrasadas, uma horrível náusea a subir-lhe do estômago até à garganta. Mas logo se atirou para dentro do quarto. Parou diante de Maria
Leonor, a tremer, olhando-lhe as saias amarfanhadas, subidas quase até às coxas.
Estendeu a mão vacilante e cobriu-lhe as pernas. No mesmo instante, Maria Leonor moveu-se sobre os colchões com um gemido surdo e dorido. E logo, sem transição, abriu os olhos. Olhou para a criada, inexpressivamente, e soergueu-se, levando as mãos aos rins, com uma careta de dor. Sentada na cama, deitou um olhar à sua volta e começou a tremer. Levantou os olhos para Benedita, com uma expressão de medo inenarrável, absoluto.
A criada curvou-se para ela e deitou-lhe as mãos aos pulsos. Aproximou-a de si e, forçando a língua que se lhe entaramelava, só pôde perguntar:
- Que foi isto?
Maria Leonor arrastou-se na cama, presa pelos pulsos.
Num esforço supremo, arrancou-se das mãos de Benedita e desceu pelo outro lado. A criada deu a volta ao leito e foi atrás dela. E tendo-a encurralada contra a parede, esmagada sob a sua grande figura negra, repetiu, abanando o tronco, numa fúria irracional:
- Que foi isto que se passou aqui?
Todo o desalinho do quarto lhe respondia. Principalmente aquele vago cheiro que pairava com uma persistência insidiosa e provocadora. Mas ela queria a certeza, queria as palavras, e repetia, irritada:
- Que foi?
Maria Leonor, de olhos esbugalhados, não respondia.
Deslizou ao comprido da cama, fugindo. Mas Benedita atirou-se contra ela, apertou-a contra a parede com uma força gemente, esmagadora. De novo aquele estranho odor, agora mais vivo e capitoso, subindo ao longo do corpo de Maria Leonor, lhe feriu as narinas. Foi esta sensação que lhe destampou a fúria. E quase gaguejando, atropelando as palavras, com uma espuma esbranquiçada nos cantos da boca:
- Pois a senhora atreveu-se? Aqui dentro, no mesmo quarto e na mesma cama onde morreu seu marido!?.. Mas que espécie de mulher sem vergonha é a senhora? E Deus não a matou, não lhe caiu um raio em cima, que os despedaçasse, quando se espojavam aí como dois cães.
Àquela saraivada de injúrias, que a fustigavam como bofetadas, Maria Leonor empalideceu, ficou branca como a parede a que se encostava e desabou no chão. Caiu enrodilhada aos pés de Benedita, como um trapo sujo e mole, indigna e abjecta. Os cabelos desmanchados pegavam-se-lhe às faces molhadas, os soluços despedaçavam-lhe as costelas. E num fio de voz que mal se percebia rente ao chão, murmurou:
- Nós íamos casar!... Estava combinado já, compreendes? Íamos casar...
A revelação fez recuar Benedita:
- O quê?
- Íamos casar... - repetiu Maria Leonor, emparvecida.
- Íamos casar...
Levantou-se custosamente, como se cada movimento lhe gastasse uma vida de energias.
Naquele momento não sentia medo nem vergonha. E pôde olhar a criada sem que um músculo da face se lhe contraísse, sem que o velho pavor lhe entrasse na alma.
Arrastou-se para uma cadeira e sentou-se, deixando cair a cabeça desfalecida para trás, contra o espaldar arestado e duro.
Benedita cerrou a porta do quarto. Lentamente, veio até à beira da patroa, e ficou ali, a aguardar explicações. Mas Maria Leonor calava-se, tomada de um cansaço mortal, como se todas as células do corpo se desagregassem num prenúncio de decomposição. Foi preciso que a criada lhe desse um abanão cruel, com a fúria reprimida e instintiva com que um gato sacode um rato morto, para que ela abrisse os olhos num descerrar lento e quebrado das pálpebras escurecidas.
- E por que iam casar?
Maria Leonor inclinou-se para diante e respondeu, apoiando a testa nos pulsos, num desabafo:
- Que te importa? Não é da tua conta.
- Não é da minha conta? É o que julga. Já pensou que eu, se quiser, lhe posso contar aquela história da propriedade, mas por miúdo, com todos os pormenores?
- Ele sabe!...
- Sabe?! Quem lho disse?
- Eu, evidentemente...
- E, mesmo assim, ele casava consigo?
Naquele «mesmo assim», havia toneladas de desprezo.
- Mesmo assim.
Benedita abanou a cabeça sem compreender, e voltou à carga.
- Por que iam casar, então?
- Para me livrar de ti...
- De mim?! Mas que mal fiz eu?
- Durante estas semanas tens feito o que tens querido.
Fui um farrapo nas tuas mãos. Andei arrastada ao pavor de saber que tudo o que dizias e fazias era carregado de intenções e de ameaças!... Era para me livrar de tudo isto que ele casava comigo.
Depois destas palavras, houve um silêncio grande e espesso, apenas interrompido pelos rumores indefinidos do dia esbraseado, que atirava chapadas de luz pela janelas, através das cortinas. Um raio de Sol, reflectido, subia do chão e ia nimbar de uma doce claridade a face piedosa e triste da Virgem de porcelana, que afogava debaixo dos pés a serpente horrível do Mal e do Pecado.
Como se as forças a abandonassem, Benedita recuou até apoiar-se na parede, e ali ficou, de braços caídos, os ombros vergados e sucumbidos. Pouco a pouco, dentro do seu coração, o antigo amor pela ama ia ressurgindo e, ao mesmo tempo, uma imensa e desolada piedade lhe inundava os olhos.
Por fim, não pôde mais. Com um soluço arrancado do mais profundo do seu desgosto, as lágrimas correram-lhe. Levou os punhos cerrados aos olhos para sustê-las, mas inutilmente.
Lá fora, passou um carro cheio de canolhos. A alta carga quase roçou as janelas, que tremeram ao abalo do chão e das paredes. No lento passo dos bois, o ruído foi esmorecendo, distanciando-se cada vez mais, até desaparecer de todo.
Dentro do quarto, as duas mulheres continuavam silenciosas, imóveis, numa expectativa dolorosa. Ambas sentiam que era preciso dizer qualquer coisa, mas as palavras morriam-lhes na garganta perante a consciência da sua inutilidade. Em Maria Leonor era um desejo imenso de levantar-se e de ir abraçar-se à criada, chorar com ela, mas amarrava-a à cadeira um resto de orgulho, e, mais do que isso, o amarfanhamento do corpo, a fraqueza do espírito. Benedita, essa, após as lágrimas, quando um movimento bastaria para atirá-la aos pés da ama, esquecida de tudo e obedecendo apenas aos impulsos do seu amor, regressara à visão do acto repugnante. Para alimentar a fogueira do seu ódio, recordava todas as palavras e todas as acções da patroa desde aquele dia chuvoso em que batera nos filhos.
Pelo corredor deserto, por todos os compartimentos da casa, ressoaram, devagar, as cinco horas. A última nota expandiu-se ainda por alguns segundos, mas logo morreu sufocada no silêncio. Benedita mexeu-se, impaciente. A impossibilidade de manter aquela situação tornava-se agora angustiosa, quase física. Deu um passo na direcção da ama. Maria Leonor levantou a cabeça, assustada, implorativa. Nos seus olhos havia tanto medo, que a criada parou impressionada, perplexa. E como se a última nuvem que ainda a impedisse de ver claramente se tivesse dissipado naquele instante, Benedita, de chofre, apreendeu toda a imensa tragédia de Maria Leonor, o tenebroso motivo que quase a fizera perder-se com o cunhado e a lançara agora, cega e doida, nos braços de Viegas.
Incapaz de falar, sentindo que não podia continuar ali mais um instante sequer, fugiu do quarto. Após o bater da porta, o silêncio voltou, pertinaz e indiferente, rodeando Maria Leonor de mil grades invisíveis, cobrindo-a de um manto que tinha a espessura da própria atmosfera.
Maria Leonor levantou-se da cadeira e caminhou pelo quarto, direita ao sofá de veludo vermelho, arrumado no canto mais escuro. Passou rente à cama desmanchada sem a olhar, como se aquele desalinho nada representasse para si.
Uma ligeira vertigem fê-la sentar-se no leito, ao mesmo tempo que uma sensação de agonia lhe comprimia a garganta num vómito. O corpo cobriu-se-lhe de suor e a vertigem, mais forte, fez dançar os móveis e as paredes, num rodopio que a entonteceu ainda mais. Agarrou-se com força à beira do colchão e fechou os olhos. Por momentos, julgou que se despenhava num abismo, numa queda que não findava nunca. Depois, de repente, tudo se imobilizou. Abriu os olhos, ergueu-se a custo e recomeçou o caminho para o sofá. Deixou-se cair na moleza do veludo e estendeu-se com um suspiro de cansaço sobre o espaldar inclinado, que se lhe oferecia, acolhedor. E ali ficou, lassa, prostrada. O vestido, arrepanhado debaixo de si, descobria-lhe os joelhos. Com um pudor vago, puxou a saia para baixo, a cobrir as pernas.
Foi o último gesto de que teve consciência. Os pensamentos foram-se-lhe turvando no cérebro, e, com uma ligeira distensão de todo o corpo, adormeceu.
O Sol, lá fora, ia descendo, perdendo o brilho fulgurante e duro à medida que se aproximava a tarde. A luz, agora rosada, entrava quase horizontalmente no quarto através dos vidros e projectava-se na parede fronteira, aos lados da cama, em duas altas manchas, que subiam, devagar, para o tecto.
Morriam os últimos restos de luz e começava já a levantar-se do chão a sombra da noite, quando Maria Leonor acordou. Descerrou os olhos de súbito e ficou imóvel, deitada, fitando a parte superior das janelas, onde refulgia ainda o sangue do poente.
Com um movimento brusco sentou-se no sofá e olhou em roda, franzindo as sobrancelhas ao ver a cama desmanchada. Mas a surpresa veio e partiu logo, acossada pela verdade. Maria Leonor levantou-se do sofá e foi até ao meio do quarto. E quando se recordou completamente, em todas as minúcias, do que se passara desde a chegada de Viegas até à aparição de Benedita, foi como se uma choupa lhe ferisse a nuca. Ficou atordoada um momento, presa de um tremor irreprimível, enquanto a noite lhe subia pelo corpo, afogando-a em escuridão.
Imediatamente, dominando todos os outros pensamentos, uma interrogação se lhe ergueu no espírito: Que fazer?
Desta vez, era claro. Chegara ao fim do declive por onde viera a rolar desde a morte do marido. Todos os gestos, todas as resistências, não tinham feito mais que empurrá-la, com pressa maior, para o poço que se abria no termo da ladeira. E agora? Deixar-se cair, fechar os olhos, rolar ainda os últimos metros até ao despenhamento final? Ou (e quando esta alternativa se lhe apresentou, as maxilas apertaram-se-lhe e os olhos brilharam-lhe de susto) interromper ali mesmo a queda, com uma queda maior e definitiva, um autêntico salto nas trevas?
Podia casar. Benedita, afinal, adorava-a e guardaria silêncio através de tudo. E ainda que a sua dedicação tivesse morrido, o silêncio seria guardado do mesmo modo. Mas a imensa absurdeza daquele casamento impôs-se-lhe como uma sombra escura. Sentia que, depois de ter conhecido Viegas tão intimamente, não poderia casar com ele. Era quase uma repugnância física que se opunha. Mas não casando, era possível, Santo Deus, continuar a vê-lo? Que seria a vida com a recordação daquele dia, daquela horrível meia hora, a erguer-se entre ambos? O casamento seria a água que lavaria a mancha. Mas não podia, não podia!... Casar? Não! Era impossível! Viver depois toda a vida ao lado dele, sempre, dia após dia, vendo-lhe as rugas cada vez mais fundas e os cabelos cada vez mais brancos? Era impossível. A própria recordação do pecado, a lembrança de que se tinham pertencido quando ainda não tinham esse direito, ensombraria a vida de ambos: acabariam por odiar-se. E teria ela coragem de dizer aos filhos que ia casar com o médico? E o que diriam os criados, toda a gente da Quinta, toda a gente de Miranda?
Num impulso desesperado, atirou-se para cima da cama. Mas logo se levantou, como se os lençóis ardessem. Fora ali. E a tudo se juntou a recordação brutal do momento, a violência do choque, o aperto duro dos seus ombros, a sensação de um peso de macho em todo o seu corpo.
Reviu a face congestionada de Viegas, curvada para si, as mãos em garra que a tinham esmagado contra a cama...
Correu para a janela a refugiar-se na última claridade do dia. E ali, sem horror, se lhe apresentou a outra solução: o salto nas trevas, o suicido, a morte. Apertou-se contra a parede fria e cerrou os olhos. Reprimindo um arrepio, procurou ir até ao fundo do pensamento, esgotá-lo de todo o medo.
Estava a ponto de o conseguir, numa dolorosa sensação de triunfo, quando a porta do quarto se abriu.
Era Benedita quem entrava, com um candeeiro de petróleo na mão. Pousou a luz sobre uma mesa baixa.
Depois, virou-se para a patroa e disse, numa voz toda sumida e trémula:
- O jantar está pronto, minha senhora!...
Aquela voz, vinda do outro extremo do quarto, perturbou Maria Leonor de tal modo que os olhos, até ali secos de febre, se enevoaram de lágrimas. Como se uma grande vaga se enrolasse no peito, chamou:
- Benedita!
A criada veio para ela, devagar, de cabeça baixa. Depois, ficaram nos braços uma da outra, envoltas na claridade dourada do candeeiro, que lhes projectava as sombras deformadas e gigantes na parede.
- Não chore, minha senhora, não chore - gemeu Benedita. - Então, por amor de Deus, tudo se há-de arranjar!...
A senhora casa e tudo esquece...
Mas Maria Leonor negava:
- Não, Benedita, isso não! Não posso casar! Como queres que eu case agora, depois disto? E como queres que diga aos meus filhos que me vou casar? O que diriam eles?..
E tu? Podias tu suportar que me casasse?..
A criada abanou a cabeça, tristemente:
- Desde que fosse para seu bem...
- Sei lá qual é o meu bem!... .
Pela escada acima, ouviram passos. Júlia chamava: «Mãezinha! Benedita!», com um aflautamento de mimo nas últimas sílabas.
- Vai depressa, vai ter com eles! Diz que estou incomodada e que não desço! Mas que não entrem, sobretudo que não entrem!...
Benedita correu para a porta e saiu. Ouviu-se um murmúrio e logo a seguir os passos da criada e das crianças, que desciam a escada, para o jantar.
De novo sozinha no quarto, Maria Leonor tentou reatar o pensamento no ponto em que o deixara. Procurou agarrar friamente a ideia do suicídio, dominar a revolta da sua carne contra o aguilhão do cessar da existência, mas já não o conseguiu. Retinia-lhe nos ouvidos aquele chamamento animado de «Mãezinha! », como um apelo desesperado de vida.
E não pôde resistir. Caiu de joelhos junto da janela, a cabeça apoiada no peitoril, a chorar.
Nesse momento, ouviu na alameda vozes excitadas, passos apressados. Abriu a janela e olhou para fora. Em baixo, dois homens iam entrar em casa, falando e gesticulando.
Chamou:
- Que se passa?
Um deles levantou a cabeça e, tirando o chapéu, disse:
- Vínhamos informar a senhora de que o senhor doutor morreu. Encontraram-no no fundo do dique, com a charrette espatifada e o cavalo morto, também. Deve ter caído...
José Saramago
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















