



Biblio "SEBO"




SONHO DUMA NOITE DO LADRÃO
PINTADA de fresco, mas já se distingue o grão de ferrugem. A mancha que alastra, subterrânea,
até cobrir a grade, o portão. Costumo sentar-me a observá-la, poucos minutos de cada vez, às tardes, vê-la crescer; e outras coisas. Tenho dificuldade em contar, falta-me o hábito. Lembro-me de ter visto a mulher; era domingo, já estava frio; a casa sossegada.
As janelas estão fechadas nas portas de madeira, um coração oco recortado em cada meio; abriu-as uma vez de manhã, quando eu passava, de par em par, por assim dizer, vislumbrei sombras de coisas, fixas; mas à tarde, nunca. Do lado de fora, grades de ferro forjado recobrem as portadas; são cachos de losangos; o ferro é enquadrado por um aro forte, à volta; as redes-mosquiteiro, Jorginho, devem filtrar a luz, esquarte-jando-a, raio por raio, mas ao mesmo tempo é subitamente matéria, passa-se o dedo, fuma-se lá para dentro, nascem animais e visões; ao fundo da rua, na vala, os insectos borbulham à espera do escuro; ela recolhe a manta, e como vejo o fumo branco da chaminé, volto para casa. Nas floreiras, as rosas, muito sonsas, erectas, são grandes antenas de grilo guardando os parapeitos; já imaginei os quartos, satisfazem-me — devem ser espaçosos e cheirar a bafio; montinhos de pó acolchoando os cantos, onde as aranhas refocilam arranhando, se se abre a janela de repente há grãos de poeira na luz — que vai directamente à cama baixa e amolgada, como um grande pacote de manteiga. Conheço os hábitos desta gente. Não devem ter mobília, esta é uma casa secundária. É porque a abandonam que a preservam, recobrindo-a dos sinais aparatosos da preocupação e do sobressalto. A grade eriçada de picos, e do lado de trás, onde há um muro, enterrei eu laranjas nos estilhaços dos vidros, para os experimentar; são bons vidros, aguçados, rasgaram-nas até ao caroço de um só gesto. As chaves, os corredores, as escadas, eis o que verdadeiramente me aflige. As chaves são, ainda assim, o problema menor. Tudo o que seja mãos, resolvo — os moldes estão prontos desde o primeiro tempo...
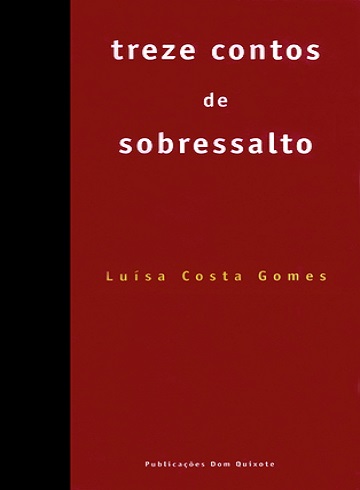
O escritor é, por assim dizer, o homem que não soube perder o hábito de fazer redacções; redacção — os passarinhos; redacção-— as minhas férias. Mas o falar é a infindável discrição e sem sentido, o mais das vezes. O escritor não. Quando se senta, cruza os pés sob a cadeira e zuca zuca arrasta o braço, como um ponteiro, no mostrador envernizado. Do que o escritor gosta é do arranhar da caneta e do derramar da tinta, fanaticamente, do sentimento do papel em resmas acabadas de comprar; e tem a mania das papelarias, apalpa furtivamente as sedosidades da borracha de lápis, a lisura do caderno de apontamentos; não é homem de absurdos acessórios, mas exige extrema acuidade do clássico arsenal do ofício. Por isso não sou escritor, conto isto apenas porque falhei a minha empresa.
Observava a casa há seis meses. Sabia que vinham só aos fins-de-semana, sentavam-se no pátio; a mulher lia, enrolando o cabelo em pequenas madeixas no dedo, compondo o xaile ou o casaco inesperadamente. Vieram uma tarde dois homens. Compreendi que traziam fechaduras e barras de ferro, que colocaram na porta de entrada e na porta de trás, nas duas janelas de cima; tive de esperar uma semana até aparecerem para aferrolhar o resto das janelas com novas trancas. Isto adiou a minha aventura, e continuei a tarefa de observar e recolher dados para a memória, durante mais três meses. Os corredores ainda me davam que pensar, sonhava — umas vezes eram estreitos, longos, outras alargados com inúmeras portas e arcos. Uma noite pareceram-me atulhados de objectos preciosos, jarrões e estatuetas, e mesinhas muito finas, com embutidos; outra vez eram circulares, imprevisivelmente dirigidos para um lado e outro, labirínticos; acordava a boiar num sentimento falso, uma calma perplexidade. Até que o marceneiro veio retirar a porta da frente, que eu sempre considerara muito frágil, colocando no seu lugar outra mais sólida, entalada na ombreira de tijolo, esboqueirando uma batente de ferro robusta, das que soam cavo e seco.
A casa, envolvida cada vez mais nas suas múltiplas janelas, redes, ferros, grades, portas impenetráveis, rosas, mil fechaduras; eu sentava-me e deixava-me ficar, Jorginho, insensivelmente mais tempo, excitado e fascinado. Sabia que, por necessidade, a escada seria de caracol. Gosto de escadas-de-caracol; põem-me tonto; é como se rodasse sem rodar, ando sempre em frente e de súbito estou de costas para mim mesmo; roda-em-mola, ou quando subo a espiral, faço render esse espaço intermédio entre o baixo e o cima, esbanjando degraus e passos, com generosidade.
Decidi esperar, porque sem conhecer os donos da casa lhes adivinhava as capacidades de invenção e malabarismo; não me desiludiram; dias passados, três homens saltaram da carrinha desenrolando centenas de metros de arame farpado, como para uma cerimónia muito solene. Quando acabaram de rodear a casa, considerei que as condições não poderiam melhorar e resolvi-me a tratar de questões de pormenor enquanto o tempo amadurecia e as noites se tornavam mais quentes. Para cada acto há apenas uma ocasião, deve ser bem escolhida quando isto é possível. Não sou eu quem o diz, vem nos livros.
Na noite do arame farpado não voltei para casa. Deixei-me ficar junto da mancha, muito quieto, rememorando e projectando; um homem passou, pediu-me lume; fui subitamente trespassado pelo sentimento de fracasso. Não podia senão falhar. As chaves e as gazuas, os machados, os alicates, as ventosas, as cordas, o pequeno precioso corta-vidros-de-ponta-de-diamante; tudo isto se me apresentou, enquanto medusava as janelas e a porta, os infinitos envoltórios; desejava tanto a gema do olho na casa de clausura, via-me aos pés da escada recebendo a luz no rosto, alterando as sombras nas feições; caleidoscópio; contidas na pele-de-guerra; na desbravada penugem do milagre.
Então, adoeci. Mas, Jorginho, suporto com paciência os golpes baixos do corpo (que os desfecha sempre de propósito), e a adversidade imprevista foi saudada e curada; a mancha crescera entretanto; o ferro tinha sido repintado e à porta acrescentaram um batente. Pareceu-me ver uma sombra, por trás de mim, no passeio. Mas olho a casa — a fachada impávida, os arrebiques — a nossa preservação de espírito onde a antena flutua — como a vela única no bolo de aniversário em chamas. Há um ninho de ratos junto à porta no muro; será fácil alargá-lo, destruindo o muro ou cavando uma passagem; fácil de mais, Jorginho. O telhado, talvez por ser negro, tentava-me. A clarabóia não tinha rosas, isso agradava-me. Quando me senti de novo forte, resolvi entrar.
Mas essa noite estava demasiado clara; esperei sentado no passeio até amanhecer; vi enfim a escada, o seu contorno austero, oblíqua. Pus-me a trabalhar o arame farpado; não era tão resistente como supusera, qualquer criança o poderia ter cortado, e mais depressa; lancei a corda à janela de cima, à direita, passei o outro extremo à volta da cintura, e subo a pulso, ventosa aqui, ventosa acolá, até ao primeiro andar; já lá estou, e dum salto atinjo a clarabóia; espreito. É o sótão, um quarto vazio. Há um livro caído no chão, uma garrafa; oiço o sino do carrinho do leiteiro, escondo-me e vou rodando e permanecendo oculto, à medida que ele vai passando na rua; não poderia dizer com propriedade que jogamos às escondidas, o leiteiro e eu, porque ele ignora que eu me escondo. Serro o aro protector, para perder tempo; passo às grades, uma a uma, raspa-raspa, até me doer o braço. Abri as portadas exteriores e risco o vidro, sai uma circunferência muito perfeita. A mão esquerda abre a janela por dentro. Coloco tudo como estava antes; estou no centro dum coágulo de luz — grito de alegria quando me apercebo de que a porta do sótão está fechada e trancada por fora. Trouxe uma carga explosiva, mas escolho guardá-la amorosamente para mais tarde. O machado será utilizado, desenvolvendo todas as prodigiosas potencialidades da sua natureza, nesta circunstância. Abre um rombo no bandulho da porta — no passeio, quando espreito, há um homem parado em frente da casa, que a olha inconspicuamente. No entanto, eu cheguei primeiro; tão verdade que já estou do lado de dentro enquanto tu te embasbacas, chapéu enterrado e cachimbo (o fumo é azul, é de manhã). As escadas não rangem. Nada me perturba.
Desço como um rei até ao patamar, encarando a mulher despida, na moldura, como um encontro dentro da ordem das coisas. Algo mexe, rearranja a luz musgosa; não sei porque me sento no último degrau, olhando a base do sexto degrau atentamente (o que é que eu esperava?) e desencorajado. Só faltava o andar térreo, das desancadas poltronas de tela.
Mais vale dizê-lo já: não consigo sair daqui. Não sei o que irá acontecer quando eles chegarem, o mais que posso fazer é imaginar o espanto e a indignação proprietária, familiarizar-me com a ideia da vergonha. Mas não sei sair. A porta está trancada por dentro, a clarabóia é alta de mais para saltar. As janelas são trespassadas por fios eléctricos de alarme — estranho mesmo que a clarabóia não tenha retinido —, não consigo encontrar o comutador. As paredes estão repletas de anúncios e avisos, máximas moralistas (o poema «se» dum tal Kipling, abominável trocadilho em verso branco; a carta dos direitos do homem entre dois castiçais de mármore clamando o direito inalienável à propriedade). Percorro os dias em grandes passadas no tapete de remendos, passadas circulares, e sem outro sentido.
O frigorífico está vazio, havia apenas umas conservas na despensa, a fome está próxima, e o fim-de-semana. Dei em sonhar com a casa ao lado; com as suas janelas em ogiva, a chaminé delgada. O homem continua parado no passeio, vem de manhã, observa a clarabóia; a boca distorcida de fumar. Olhamo-nos, enquanto eu procuro verificar a solidez das grades, imaginar o salto; chego a colocar a corda à volta da cintura, atá-la à trave do tecto, e quando ele afinal parte, ergo-me até meio-corpo, ponho o joelho no parapeito e estou de cócoras; a altura enjoa-me de repente, retrocedo.
Esta manhã, ficou mais tempo. Aproximou-se da grade, rodeou uma das barras com a mão direita, na luva preta. Mastigava qualquer coisa; quando eu olhava ele punha muito depressa a mão atrás das costas; eu tinha encontrado uma lata de ervilhas cozidas, tirava-as com dois dedos e comia-as devagar, uma por uma, enquanto o observava. Quando eu descia os olhos sobre a lata para colher uma ervilha, ele aproveitava para dar uma dentada no que quer que fosse que estava a comer e voltar a esconder a mão. Esperava, alterava o ritmo. Mas não consegui saber o que era. Quando parou de mastigar ficou muito quieto, fixando um ponto (imagino que seria a mancha). Depois olhou atentamente a casa ao lado, a que eu agora cobiçava; acendeu o cachimbo e retomou o caminho, para o lado da vala.
ORDÁLIO
Às três da tarde não devia haver ciclistas. Destes que decidem atravessar sem aviso prévio — ia a eber duma garrafinha de água que voou cinquenta metros.
Pela esquerda deslizam chapéus e cotovelos cujos olhos evita, das suas molduras de vidro; imóvel, calcula que não podem ver o corpo — a bicicleta caída mais à frente, o volante encaracolado, a roda vã girando no ar... e como o corpo sangra. Do chão fixa mansamente o farol aceso.
As mãos tremem e o depósito da gasolina está meio vazio; o tapete tem manchas de lama seca, a maçaneta perdeu a cabeça e o só problema, o que conta, é que não há um mapa no porta-luvas, na pasta.
A única certeza — é uma auto-estrada. Que auto-estrada não sabe dizer, não sabe por onde começar a pensar. Vítima de sinalização derisória. Um cartaz diz obras a cem metros (não existem), outro — perigo — de repente é uma auto-estrada lânguida comendo as suas vacas pelas bermas e no verde — começar por um ponto de referência nebuloso, paira a luminosa seta vermelha cris aponta talvez para cima, estertor e morte do sistema, orienticida.
Esconder o corpo.
Aproximam-se mais chapéus e bandeiras, há uma festa num sítio algures — enumera os mais prováveis —, a minimaratona do norte, a gincana de tran-galhadanças, a ele homem de festas o que lhe foi acontecer.
O que me foi acontecer, um cartaz diz-me Dort-mund outro Marlboro, um pouco roído, um deles pelo menos devia ser azul, mas são ambos escritos à mão, provisórios, propositados, um depois do outro em pouco espaço, eu sei o que é Dortmund, é onde eu vivo, talvez esteja a voltar para lá — saio do nevoeiro. Suponho que há uma relação entre todas estas coisas, mas foi-se-me a alma de abacista e o fôlego nas contas, cem metros, mais/cem metros, um sinal mais um sinal, dois sinais a cem metros igual a saber onde começou o nevoeiro e onde acabou, talvez os cálculos me levem para longe de Dortmund. Suporto com brandura o ordálio — o nevoeiro, a auto-estrada, o acidente.
Orientar-se, é a partir dum ponto dado, ordenar tudo — e pensou ter arrumado a questão do mapa. Mas que ponto é esse, o ponto em que estou, à minha frente, atrás de mim, o amolgão no farol à esquerda, o corpo à minha direita, definido o sistema das coisas neste momento — como ordenar o lugar para onde vou se o desconheço, se desconheço o próprio lugar onde mato um homem? é preciso antes conhecer tudo.
Deixar aí a bicicleta.
O homem volta a sangrar, mancha, andara vinte quilómetros — o pisca-pisca ficou preso, teria de voltar indefinidamente à direita, criar um círculo e percorrê-lo preso ao mesmo centro, um picadeiro de areia movediça. Enterrá-lo, puxar da pá e enterrá-lo.
Se o ponto de referência se move, tudo viaja com ele; se eu vou, tudo irá comigo, o mostrador, o corpo, a mala, nas posições respectivas, a planície perder-se-á, aparecem montes ao fundo, chaminés e outra planície impondo-se muito branca, não saberei se é a mesma, compreendo unicamente o morto que posso dizer está à minha direita mas só enquanto eu estou à sua esquerda — tudo isto conheço com rigor. E mais nada, o resto é sorvido, como a bicicleta, a minha casa, ontem, na mesma espiral e à frente os aros são tão largos que os não posso ainda definir. Viajar para Dortmund.
Pode uma paisagem de chaminés constituir um ponto de referência? Depois outra vez a planície indistinguível, e terei voltado ao mesmo lugar, à mesma espécie de lugar — porque sei o que é esquerda e direita embora não saiba como posso sabê-lo, talvez que ao considerar a mão se dê um sentimento próprio, quase um enjoo que lhe diz respeito por inteiro — e que o mecanismo do pensamento acerado se ponha em marcha como um relógio, em direcção ao oriente; a partir daqui cortam-se etapas, o norte e o sul põem-se nos seus lugares e eu posso aí chegar porque suponho primeiro que lá estão; construo ponto a ponto um mapa, daqui para ali com o corpo às costas a pouco e pouco rígido, atento às flutuações das vacas e às alternâncias das chaminés como se do alto dum miradouro recenseasse coordenadas.
e o que diz ele, o que ele diz, está morto, deixam-me só sinais que me desnorteiam.
eu suponho que a estrada continua, à medida que vou continuando, imagino que termine à medida que vou continuando e ela não termina; há uma cidade no fim desta auto-estrada (?), não sei qual nem onde exactamente; para saber onde fica não posso dizer no fim desta auto-estrada unicamente, mas no meio, no princípio, no canto de outras cidades. Com o mapa, simplifica-se. É só olhar de cima e tem-se o país todo e as relações inextricáveis, segue-se com o dedo a estrada até à passagem de nível, às bifurcações, contam-se quilómetros às centenas, calcula-se e economiza-se, porque já sabemos donde vimos e onde estamos a chegar, e qual é a ligação entre esses dois lugares no caldo do lugar geral, que os torna, por assim dizer, lugares.
O casal no carro vermelho olha-o suspeitoso. A mulher levanta os óculos para os deixar cair sobre a cana do nariz. Regista um tremor, espalma as mãos nas pernas para as limpar e quando o carro desaparece na espiral, abre a porta, deita fora o corpo e está purificado.
Não saber onde estou.
A não ser que me chegue a gasolina.
NECROFILIA
«Don't moura, organize!»1
1 WOLF, Miriam «Letter» em Woman Spirits, Spring Equinoxe, 1979, «Não se lamentem, organizem-se!»
A Rua Daguerre inebria devagar. Porque se vai naufragando obliquamente no cheiro dos queijos e tropeçando nos caixotes de legumes, até que já nada mais conta senão a subterrânea suspeita de comércios ilegítimos cochichados na penumbra, por trás de cortinas de missanga. Mas tudo isto inconsciente, surdo.
Vende-se pão e carne; comestíveis delicadezas, especiarias (ou a ideia delas) —e vêem-se as mulheres cambaleantes, no entrançado que seria o dos seus percursos fotografados numa longa exposição — arrastando feixes de luz cor de laranja e sacos pesadíssimos donde gemem crianças.
É um cenário privilegiado: onde as histórias se multiplicam, o concreto excede de pormenores; e, sendo uma rua muito ampla, permite ver de longe, meditar — lamela onde evoluem arbitrariamente os fungos dilatando-se na substância invertebrada.
À entrada da Rua Daguerre
O cheiro dos queijos
Um cão no pátio
Afogado em moscas que o mordiam
Ele saíra da casa das chaves,
de sobretudo, é Julho, mas está frio.
No túmulo de Colei te Saint-] acques
Sobejam cravos — que ideia!, e crescem ervas
Já a mataram
O que está feito, está feito.
Quem é o assassino de
Colette Saint-Jacques, da sua vida,
quem a estrangulou com fio de seda?
na sua casa, à noite, pela calada?
a manga do vestido
dilacerada até ao ombro?
de lutono funeral
Pergun
ta: quem é ela, quem a matou?
O cheiro dos queijos na Rua Daguerre
Atrapalha os passos e as mulheres do. bairro
Dão trocos certos e baixam os olhos
À espera de vez.
Esta é a história da morte e do amor da morte de Colette Saint-Jacques. E, sendo esta a história, é também, pela força das circunstâncias, a do seu* assassino, Monsieur. Circulam, entre outros, no perímetro ocasional do cemitério de Montparnasse; assistem a um funeral, fazem parte do cortejo.
Saem à mesma hora, encaminham-se para o mesmo lugar. Descem a rua Gassendi, viram à esquerda: não se conhecem, não podem saber que estão juntos nesta história, ainda não. O homem aconchega o sobretudo — é Julho, mas está frio —, o cachecol; ao passar pela mercearia, deita uma olhadela à montra onde esmorecem alfaces; tem razão; costumam lá estar uns frangos completamente nus, decapitados, que infinitamente se rebolam no calor dos infravermelhos.
Colette sai nesse momento da padaria, procurando manter a «baguette» afastada do vestido negro; o braço erguido, segurando o pão, podia ameaçar. Antes se excusa. E isso dá-lhe um andar desajeitado, o arquetípico contrário da ofensiva marcha positiva de Monsieur que investe contra a multidão anestesiada. São sete horas da tarde.
O que há de particular neste homem é que não olha em volta. Pára um momento para comprar o jornal que entala debaixo do braço num gesto enxuto. Dizemos: é uno com o seu caminho, não suporta distracção.
Percorre-o estreitamente, mas a direito, e pensa na morte, no abstracto da morte (no impensável). No que o leva a rondar cemitérios, hospitais, mortórios, reunindo casos e experimentações — um método de exorcismo —, assentindo e anotando.
Para o abutre custódio, no seu quarto que é antes uma gaiola, uma jaula, velas iluminam os horários das igrejas, das visitas aos doentes, numa escala tecnicamente perfeita de alternâncias. Mas pelo olho de abs-cônsia reconhecemos o homem de negro que carrega aos ombros o seu quarto para onde quer que vá, e, por isso, estar na rua ou não, pouco importa. Em todo o lado Santo Antão desvia o rosto, S. Tomé fradeja agudamente com as hierarquias de anjos aprisionados em vinhetas.
«A mãe e o irmão iam no carro, de que terá morrido? o braço dela repousa no caixão, branco e dourado; como choravam, amavam-na muito, não será verdade? ele tapa os olhos com o lenço. E nós, atrás, descemos a rua dois a dois; o velho segura-me delicadamente o cotovelo; não era da família. Foi um funeral discreto. Não deve ter custado muito dinheiro.»
Todos os dias, dantes, Ben lhe telefonava — ela vende perfumes, agonizando como uma borboleta etilizada no crucifixo dos espelhos, da luz de néon — «Na loja, às cinco», dizia; e ela corria todo o caminho para cima, até que dum malentendido Ben desapareceu — isto é, deixou de telefonar — e Colette, não sabendo como satisfazer o ansioso buraco crepuscular até às oito (e aos sábados?) começou a seguir funerais e a visitar os doentes no hospital. Mas exigia-lhes que fossem incuráveis.
«Quanto tempo estará ela ainda presente? Um dia, o irmão no metropolitano, fecha os olhos um instante e ela aparece: mas só um gesto, parte dum riso. Se ele chora, não é porque a viu, mas porque já não a consegue ver.»
Um diário, sobretudo um diário de capa branca, com «diário» escrito a dourado e requebrado, requer assistência. Por isso Colette passa com vagar a mão espalmada pela página e se endireita para pensar no seguinte. O folho da camisa-de-dormir, muito engomado, arma um colarinho circular, sentinela de um dualismo de muita serventia: do tempo em que as mulheres eram anjos, eram puramente caracóis loiros flutuando no vazio; e o folho assinala a fronteira a partir donde ela deixa de existir — porque passa a ser demónio, corpo, massa, tentação. Quando a sezão arrebata o folho, que humilhação!
«Os mortos», costumava Ben dizer na sua existência telefónica, «só deixam de falar ao fim de alguns dias. Julga-se que vão dizendo cada vez menos frases, até só dizerem palavras soltas e sons desaustinados; e acabam por morrer de repente, à míngua, sufocados. Fixa-se um olhar para sempre, uma última sentença desencorpada», e a memória empalidece, como branqueia a crosta das feridas que acaba por cair, conclui Colette, deste lado.
Mas, na verdade, ela não pensa na morte, no sentido em que nós dizemos «pensar na morte» — os sinais exteriores, sacramentais, as lágrimas, os gestos de litania, o tapar convulsivo do rosto; o violento sacudir dos ombros até à franja do xaile. Mas o que lhe interessa é: quem morreu, em que circunstâncias, quem o chora, porquê; se deixou filhos,- se a viúva recebe a pensão, as idades das crianças, quem pagará a renda; se, enfim, tudo está em ordem. A morte é a única perturbação irrecuperável, a fundamental subversão dos valores — a única que vale a pena —, «Agora já tanto faz», diz-lhe o irmão, e no encolher de ombros Colette compreende um significado de indignada resignação; vulnerável, ofendida, mas que não aceita «pensar a morte». No ofego de pormenores germina a ciência: que morrer é deixar o reino onde os valores valem e entrar na indiferença verdadeira.
Pensar a morte é sobretudo exorcizá-la, quebrando-lhe os inefáveis ossos na procústea otomana da inteligência — mas ela é real, e é espectral, e é inelutável. E se é precisa esta introdução pedagógica, é para que realce Colette alapada nos sinais da morte, não nos símbolos.
Mas deixemo-la ser, por enquanto, uma sombra. Espantalho cozinhado dos restos de outras personagens.
Se ela se/volta em cheio de frente para nós, vemos-lhe, ainda assim, só metade do rosto. Nunca há luz suficiente para a ver toda, porque a linha artificial que a divide ao meio, dia e noite, branco e negro, corpo e ideia, permanecendo uma figura de estilo, poupa o serviço de outra luz e doutro olhar.
Monsieur faz paciências na sua jaula. É um homem discreto.
Lê o jornal, até à página desportiva, acompanhando com respectivos ajeitamentos do corpo. Se lê o editorial segurando o jornal no ar, e tendo a perna esquerda traçada sobre a direita, o cachimbo do lado direito da boca, lerá a necrologia com a perna direita traçada sobre a esquerda, o cachimbo do lado esquerdo, apoiando os braços no cadeirão. Porque o seu espírito ama a simetria e o rigor, dobra o jornal em quatro e junta-o aos outros —' se é dia par, do lado direito da mesinha-de-cabeceira, se é ímpar, do lado esquerdo da enorme reprodução das Tentações de Santo Antão, por cima da cómoda.
Pode seguir-se outro ritual.
Sai em direcção ao cemitério de Montparnasse, apressando-se. É dia de hospital. Na Rua Daguerre a mesma mulher (é Colette que segue nessa direcção) contempla com desinteresse o merceeiro que espanca obstinadamente o cão solitário. Quando ergue os olhos, nota Monsieur que, imóvel, do outro lado da rua, a fita como se registasse algo numa agenda. Para não se esquecer. E Colette derrelicta é um objecto negro que olha Monsieur paralisada. É ó mesmo homem, o dos funerais. «Perder-me na miniia vida», pensa ela, e o seu desnorteio é comensurável — o cão a ganir (pelo menos enquanto lhe batem não lhe pousam as moscas no lombo) e o merceeiro afogueado, erguendo e baixando o braço com determinação, como um metrónomo.
Monsieur anota os nomes, as idades, as doenças. Calcula o tempo de vida. Faz perguntas. Tem teorias gerais sobre os cancerosos, os sifilíticos, baseadas em dados estatísticos. Reúne-os com escrúpulo e espírito fino, ao longo de meses. Assenta com gravidade quando morrem junto dele, tira apontamentos das últimas visões, vontades, palavras. Uma vez chegou a servir de moderador numa questão de heranças, mas foi excepcional. E Colette é agora objecto deste olhar-croque matemático, a pretexto da violência feita sobre um cão. O mundo desvia-se — no centro está aquele homem que a esquadrinha — e o único sinal que lhe responde é outro olhar, outro centro: «Este homem segue-me.»
No hospital, entram para a mesma sala. «Quem é esta mulher?» — Monsieur ouve os passos do enfermeiro que se afasta com os tabuleiros. O doente tem os olhos quase brancos, imagina-se que respire, mas Monsieur considera antes Colette de viés e ainda não sente medo. «Que me quer?» Sabe que ela o segue pacientemente nos cortejos e nas visitas, onde se senta dois doentes mais à frente; e a três quartos, isto é, nem de frente porque seria demasiado notório, nem de costas porque o seria igualmente. «Há alguns papéis que devo queimar», Monsieur abre a carteira onde guarda a colecção de cartões (do clube, do antigo sindicato, do colégio) e dedilha-os rapidamente. Aproveita um instante em que Colette se baixa para apanhar um lenço, para fazer deslizar um deles sob o lençol manchado do doente. Dir-se-ia que pressente os movimentos de Colette — e quando ela olha de novo, ele já desaparecera.
«Era perseguida por seres e dizia para comigo: são seres infernais. Era perseguida, mas na verdade era eu quem os seguia, compulsivamente, de longe, com discrição. Sento-me numa sala escura onde há muita gente; parece uma festa. Entram os guardas do Rei que trazem um carrinho de chá com frangos minúsculos, do tamanho de pássaros. Dizem-me "presente do Rei" (que se chama Mauro) e eu não consigo lembrar-me do que este presente vem recompensar.
Estou sentada a uma mesa no canto, junto a uma porta fechada. Do outro lado algo me agarra a saia, começa a puxar. Estou a ser vigiada por um guarda muito alto; procuro puxar a saia para mim, sem chamar a atenção, mas o que está do outro lado faz um ruído indescritível, tem uma força enorme; tenho medo que alguém repare na minha luta. O guarda diz-me, cheio de compaixão: "São os bichos do Rei". A coisa do outro lado da porta continua a fazer barulho, não como um animal arranhando, mas como uma pessoa, batendo e tentando forçá-la, abanando e grunhindo.
O Rei entra, vem de chapéu. Nesta altura eu sou mulher, quando ele aponta para mim e me ameaça. Quando Mauro sai, sinto que me condenou à morte. Corro para a janela, tento saltar. Na minha fuga oiço alguém dizer: "A pistola, a pistola", mas o sentido do que diz é antes: "Atirem a matar" (nesta altura sou homem). Venho a correr pela rua abaixo e atiro-me contra um estendal de roupa, onde fico a rolar no arame, sobre mim mesma, à espera que atirem. Mas ninguém dispara: eu enrolei-me num lençol branco e subi a uma árvore.
Mais tarde aparece um guarda que eu sigo. Lembro-me dos seus pés enormes, militares. Junto a um café, que está fechado, pára. Eu sei que devo entrar por aquela porta. É a porta que dá para o inferno.»
Colette tinha medo dos sonhos. Por isso os escrevia, para que tomassem uma existência menos abstracta, na linguagem; alongava-se na cama, cruzava as mãos sobre o peito, e estava livre.
Vê-se ao espelho envelhecida. Repara nos traços fundos das asas do nariz à boca — estica a pele do rosto com as duas mãos, como se espalhasse um creme invisível que é uma expressão desoladoramente ausente. Escolhe com cuidado o que irá vestir. E, no centro da atenção para consigo mesma, existe a imagem carregada de Monsieur que a observa do outro lado da rua. «É por mim que segue funerais.»
Quando o nosso pensamento do mundo não é mais do que o reflexo do pensamento de outrem, ele ergue-se draculamente, fantasma das nossas fantasias. O monstro demonstra o monstrador: e o outro, o inocente, ignora com candura ser objecto dum pensamento e dum tremor. É possível que o pressinta, como os objectos adivinham a nossa insistência em adorá-los ou a nossa angústia, e se partem, ou desaparecem, ou se tornam irascíveis.
Mas o outro não quer saber que é um objecto que o transforma em coisa, porque a isso se opõe o seu próprio pensamento do outro que o transforma em coisa; que o defende do mistério de ser o assombrador do pensamento do outro; que o protege da suspeita de ser a imagem da imagem da imagem.
Na loja, ao cheiro enjoativo dos perfumes, Colette limpa o pó do telefone meigamente, Ben foi-se no labirinto das linhas, descruzou-se dela; vê Monsieur passar na rua, através da montra, e voltar a aparecer (retarda o passo quando chega debaixo do R, e eclipsa-se um instante — FUMS — e o S cobriu-lhe num lapso o chapéu). «Então ele já sabe», murmura Colette, e pensa «Agora falta pouco»; a mulher muito pintada ergue a cabeça (escrevia um cheque) e pergunta-lhe no seu tom mais factual se já vieram os «batons», para não a deixar perder-se. Mas ela já só vê Monsieur aparecendo e desaparecendo na montra como os manequins de tiro ao alvo nas tendas de feira, e considera com abstracção os boiões de cremes e os painéis de cosméticos como se tivessem deixado de fazer parte do seu mundo. Que agora é Monsieur e as visões.
Às quatro e meia, à hora de sair, há um pânico brutal que a obriga a trabalhar duas horas extraordinárias. O patrão não gosta, mas não somos senhores dos nossos pânicos. E depois ainda é pior, porque é de noite.
Procura na lista dos telefones o número de Ben, mas é inútil. Ninguém responde. Chama «Minou!», a rapariga-da-limpeza, que vai a sair e Minou acompanha-a, esfinge, falando de histórias míticas de assassinatos e roubos enquanto Colette, vigiando, se vê adolescente, escondida na penumbra, escrevendo (à direita há um candeeiro que a protege da sombra maternalmente ):
«E então penso: vou morrer. Alongo-me dentro de mim como se desenrosca uma cobra e fico extasiando-me na imagem da minha morte (o meu caixão, o meu passado) e encho-me de pena. Uma sala branca: tenho medo deste silêncio lapidar, é o que eu digo. Acordo gelada.»
Monsieur considera-se vítima de conspiração. Mil indícios lho segredam, alguém descobriu a pericolusidade da sua visão límpida da morte, alguém, todos o querem aniquilar. A mulher Colette é o mensageiro da destruição iminente, que o segue como um cão, na busca tranquila.
«O mundo é uma máquina, a máquina do mundo», repete enquanto procura papéis comprometedores nos armários e nas gavetas. St. Antão desvia o olhar da culpada busca, presta atenção aos monstros.
«O sol, a máquina do mundo», Monsieur veste o fato cerimonial, a expressão cerimonial, a máscara.
Abre o Apocalipse:
«É digno, o Cordeiro degolado, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E todas as criaturas que se encontram no céu, sobre a terra, sob a terra e sob o mar e tudo o que eles contêm, ouvi-ás dizer: "Ao senhor e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos." Os quatro Animais diziam: "Amen" e os Velhos inclinavam-se e prostravam-se.»
Monsieur desloca-se para o outro canto da sala sem hesitação. Ritualmente. Sente-se que há no espaço um ponto fixo, um eixo. Mas — como pensá-lo? — não é um rito. É um evoluir maniacamente geométrico onde se discernem com facilidade intersecções, tangentes, paralelismos. Sente-se que deus deve ser essa razão matemática, esse infinito poder de ordenar o espaço.
«As águas junto das quais viste sentada a Prostituída são povos, multidões, nações, línguas. Os dez cornos, tal como a Besta, odiarão a Prostituída, despojá-la-ão e pô-la-ão a nu, comer-lhe-ão a carne e queimá-la-ão. Pois foi Deus que lhes meteu na cabeça executar o Seu plano.»
O plano de Monsieur é trivial. Seguir Colette até casa, saber com quem habita. Onde há bifurcações de ses e entãos: e a rede de hipóteses se vai tecendo, até ao ponto em que Colette aniquilada não poderá mais espiá-lo, correr de cá para lá com mensagens e traições.
Se viver sozinha, sim; sem deixar rasto. Mas não irá interrogá-la. Não faz perguntas. Para quê? Fazer perguntas é, afinal, negar a existência de Deus. E o vítreo sacrifício de St. Antão não teria sentido. Nem nada.
A jaula de Monsieur: velas e vinhetas. Guarda-fatos de mogno. St. Antão. Cama de ferro, estreita. Lamparinas de azeite, fotografias hieráticas, imagens. Estátua de S. Tomé alucinado, as vestes amarrotadas pela mão barroca do escultor.
Por exemplo: os livros. Que têm uma forma natural de existir em prateleiras (o homem é diferente), sabem silenciosamente coisas que deixam escorregar da economia para a política, para a teologia, extrapolando linhas, contratando inusitadas vírgulas. Mas no fim de (séculos? ) há um caldo de palavras, que têm uma ordem — a mesma das letras na sopa de massinhas, cruzamento de materiais determinações.
O sofá de couro tem um rasgão junto à perna da frente, do lado esquerdo. Foi de certeza o tempo, mas sugere um esfaquear propositado — como esfaquear umaí existência mineral que se apresenta na claridade licorosa sem segundas intenções? Monsieur, no entanto, sabe causas. E introduz pela abertura um punhado de papéis manuscritos, alguns objectos. É tanto um cofre natural como uma gruta, igualmente secreto: tem do cofre o poder de imitar o ventre, da gruta a ideia de que aí pode ainda entrar um feixe de luz. Protegidos e escondidos, mas não cercados.
Quando se senta, imagina-se ave de chocar mistérios. Mãe de anónimos filhos negros. Responsável de graves implicações.
E decide, olhos nos olhos petrificados de S. Tomé, para bem de todos, matar Colette.
O cortejo lento. Silvos de vez em quando, abafada-mente, todos suspensos desse quase gritar descompassado, à espera. Monsieur troca de lugar com o velho primo da família; está duas filas atrás de Colette. A estratégia de Monsieur é infantil. Já se tornou claro que o seu alvo é Colette, facilitam-lhe o caminho. O primo da família acena para o sobrinho do morto; que troca de lugar com a irmã, ao lado de Colette. Eis Monsieur onde queria — estende o braço que leva um bilhete na mão fechada. Colette ergue-o à altura dos olhos sem mover a cabeça, murmura-se4he dentro do ouvido, algures, o infecundo falar. Monsieur acabou de lhe fazer uma declaração de ódio: «Sei quem és», escreveu ele.
O tremor que a assalta não é o espanto, ou o medo, mas o entusiasmo.
Ben dizia que a conhecia muito, especulava condescendente acerca de propriedades: a candura, a calma, o espírito um tanto turvo e sereno todavia. No fundo, Colette sabe que Ben a achava tonta, porque gostava de repetir a metáfora da traça ofuscada pela intensa luz, tirar ilações duma conduta assim teimosamente circular. Colette tinha aprendido a sorrir ao ouvir esta metáfora, como o cão saliva quando se lhe toca a campainha — e Ben passava-lhe a mão pelo rosto, demorando-se junto dos olhos, que tapava e destapava com dois dedos sobre as pálpebras.
«Não está cá ninguém», dizia Colette com os olhos tapados. E isso era, em parte, verdade. Muitas vezes não estava ninguém por trás dos olhos fechados de Colette, porque ela saía do seu corpo para se olhar através das especulativas mãos de Ben, pelo seu entendimento. E o que ela via era uma mulher tonta, confusa, a vítima perfeita; agora compreende que Monsieur a segue para a matar, embora não saiba exactamente de que deve sentir-se culpada.
«Que lhe fiz eu?», é uma pergunta absurda, se se parte do princípio de que o mundo é uma máquina — e de que a acção e a reacção se passam no desejo onde o longo braço da razão não chega.
Um tiro de pistola, supondo que engatilho e parte, para onde, simbolicamente? para o céu das balas. E uma bala só, hem? que temporal, que fundação de pasmo, maravilha! O silêncio que a segue vem pousar na explodida tarde, aninhado, a pensar em chupados buracos; nas bombas-cogumelo que devoram o espaço; nas vertiginosas invenções que engolem as coisas de que não fica rasto, nem se pode esperar que refloresçam.
Colette entala a camisa-de-dormir na maleta, fecha precipitadamente a porta. Denfert-Rochereau e sair de Paris. No comboio instala-se entre dois negros, sai na paragem seguinte, muda de linha. Sabe que Monsieur a persegue, que a perseguirá sempre, muda novamente de linha; o pesadelo que a ocupa é prático: o dinheiro, o lugar, o quarto, as chaves, o armário contra a porta, grito, quem a salvará? Ben incomunicável. E mais ninguém.
Não lhe ocorre que o mundo é um lugar impossível, ou simplesmente responder a Monsieur não sei quem és, não quero saber; não lhe ocorre a rapariga-da-limpeza como companhia, mudar de casa, ir à polícia.
Ocorre-lhe apenas mudar de linha, continuando a andar de comboio.
Quando o homem da guitarra — cantou acompanhado por um cego — lhe estende a mão com arrogância, recusa. O outro espanta-se erguendo as sobrancelhas, mas ela recusa mesmo assim. Claro que sente vergonha, todos a olham esperando um gesto de suave escusa, não tenho moedas, ainda não me pagaram, também não tenho. Mas, em vez disto, desvia o rosto gravemente, como se tivesse tomado uma decisão irrevogável. O homem afasta-se sem se voltar, Colette está incapaz de perdão — permanece a olhar pelo vidro para onde não se passa nada, porque a gente está toda deste lado, encolhida nos assentos a ler jornais, a interpretar os rostos dos outros, dmaginando-lhes passados controversos.
Até que à noite volta para o quarto, na pose dos ombros caídos. Se fosse ave diríamos que siava; de vez em quando descansa os braços, pousando a mala. Monsieur observa-a, deixa-a aproximar-se. Quando passa por ele, dirige-lhe da ombreira um «boa-noite» entre dentes, segura-lhe a mala. Ao chegarem à porta Colette diz «É aqui», e entram para o átrio.
É certo que podia ter quebrado os espelhos da casa dos perfumes, o que apagaria a luz de néon, provocaria um curto-circuito. Poderia ter retirado com cuidado, ponto a ponto, o folho-sentinela da camisa de dormir, e ser toda anjo ou toda demónio, dependendo da qualidade da luz e da perspectiva. E poderia ter fugido (para a América?) com o dinheiro da caixa, para percorrer as auto-estradas e o desaperto de maiores espaços.
Mas, na verdade, como pode ela fugir quando sente que tudo lhe foge; ou quebrar espelhos quando lhes faz confiança e, por isso, se detesta? Sempre que se olha vê-se mulher-traça tonta, atormentada de culpas, seguindo funerais.
No hospital, a doente chora incuravelmente glauca. Não se habitua. Colette sente por ela uma vaga repulsa, pelo choro que lhe parece vão, mas segue as flexuosas frases desconexas, onde nadam vogais longas, demorados suspiros. Na morte o olhar deve ser de ferro; resistir-lhe até ao fim, obstinadamente; por isso, às lágrimas vê Colette assomar um princípio de cedência, uma rendição. Inevitável, diz a doente. Colette inclina-se, toca-lhe nas mãos. É um gesto que a desgosta particularmente, demasiado óbvio — por isso quase não se move, fria por trás da ladainha qual inevitável? tudo vai correr bem (e que posição desajeitada!).
Quando Monsieur passa, Colette deseja de novo perguntas impossíveis, «Que lhe fiz eu?», reúne os rebuçados, os sacos, as guitas, as migalhas, e segue atrás dele.
Já em cima da cama imagina que diferença fará viver num caixão ou num quarto como aquele. «Questão de espaço», e o que se pode dizer é apenas: que o espaço diminui. O tecto alto, húmido, baixa sobre o rosto, quase toca as mãos — e não se pode respirar fundo. É por isso que os mortos não respiram, pensa ela, «questão de espaço».
Ben dizia: «Coitado do avô, todo o dia ali ao sol», regava-lhe piedosamente as flores, até as substituir por epitáfios longos que não precisavam de água. Mas o coveiro também não era muito saudável, tossia para cima das campas desconsideradamente, acolhia Ben e Colette com um sorriso ( ?) cúmplice como se eles precisassem de se esconder.
«Um caixão também não tem janelas», só o naturalista se interessa legitimamente pelo que se passa debaixo do chão. Mas é lá que estão as raízes das pessoas, ramificados tentáculos até ao centro do mundo onde universalmente se entrelaçam.
Collete volta a escrever a sua pitança de morte, pela última vez: «O homem que me segue é louco. Não sei se tenho medo. Sinto a falta de Ben, que só gostava do avô. Ontem não dei esmola, pus-me a olhar pelo vidro. No hospital a mulher fartou-se de chorar.»
Às sete horas, na Rua Daguerre, a multidão acerta consumos — vem do metropolitano, nuvens pesadas, o homem é o lobo do homem, a Rua Daguerre é o lobo de todos, Colette o cordeiro pascal. Vemos Colette na luz das sete horas, limitando um mundo abstruso à pormenorizada consciência da morte que está para vir. Também lhe chamam a libitina, na raiz de líbito.
«Velar», e arranja-se de negro com esmero, reconhecendo a tremura, a magreza, a tensão, abre a porta de olhos baixos e segue no passeio muito encostada à direita, como se quisesse imitar as portas e as janelas que, segundo o hábito, não se mostram fora do contexto das casas do seu destino.
E, mais tarde, sentada entre os familiares do morto, que o ignoram urdindo intrigas vivas, esqueceu completamente Monsieur e a perseguição que a obriga a prosseguir. Porque agora sabe que é ela quem persegue, já que ele se sente perseguido.
Contempla o rosto duro do morto. Dorme.
A morte deve ser esse sono involuntário, como quando a cabeça desliza para a frente, sobre o peito, no autocarro; perde-se a oportunidade de descer na paragem certa e o caminho torna-se, daí em diante, inevitável; deixa de ter significado — ficou há muito para trás a possibilidade de sair e continuar a fabricar sentido. Já tudo tanto faz.
Ar. No quarto de Colette também está tudo fechado e ela fechada nele. A ostra abre no seu ritmo a válvula, lança bolhinhas, mostra a carne alaranjada, mole, viva; é a sua forma própria de respirar. Colette perdeu o hábito. De vez em quando suspira, imita trejeitos que lembram o encher e vazar do peito, o abrir e fechar dos olhos — mas, realmente, o peito imóvel.
Porque lhe tinham dito que encontrar Ben e mantê-lo prisioneiro na linha do telefone era o seu fim autêntico; que Ben e ela a vida toda na loja, às cinco, conversando do avô ao sol, das flores hidrófobas, do preço galopante dos frangos; e que aprendesse seguramente, no mitridatismo da humilhação, o silêncio, quebrado pelos gritos alarmados das crianças. Quando ele se instalasse.
É junto dos mortos que Colette pensa melhor na sua vida; no que terá corrido mal, irreversivelmente, a partir de certa altura. Uma vez ocorreu-lhe «recomeçar», mas foi como um tiro para o escuro, em que se assusta a seta, se atormenta o atirador. E não há certeza de nada.
Num momento qualquer do percurso, é isto que Colette pensa, devia ter feito isto, ou talvez não; devia ter dito não, ou sim, como sabê-lo?
E da culpa, só ela e Monsieur, que a observa sentado entre a família do outro lado da sala, sabem.
Monsieur acredita no destino; acredita, sobretudo, nos seus enviados; na mão que enrola e desenrola o destino dos outros; por isso lhe não repugna a violência.
A organização que o mandou seguir (é tão perfeita que nem Colette parece saber o que se passa) tem, meios enormes: armas, cientistas, dinheiro, pensadores em grande quantidade. Ontem Colette seguiu-o no hospital, quase de cama em cama; mas, na rua, ela própria foi seguida por dois homens de negro (disseram-lhe algumas palavras à entrada da loja); Ficou perturbada.
«Uma traça», pensa Monsieur, que pensa muito pouco em animais (eles, ao contrário, tèmem-no — sentem a perdição, a presença dum drácula).
Monsieur sabe que tem medo. O cão aparecera morto no passeio, os homens da câmara tomaram conta do caso. Tem medo. E poder. A morte de Colette vai desencadear a guerra, será novamente seguido.
Mas um homem define-se violentamente como uma coisa que aceita desafios, calcula com rigor os seus ataques, o medo, a altura do salto, a direcção do tiro — para se deixar matar, com dignidade, por fantasmas que o assombram desde sempre.
E se Monsieur assassina Colette não é por estar louco, como ela sugere, bem ao contrário — é por levar às últimas consequências as ideias gerais duma civilização.
Colette deixou de fechar a porta do quarto à chave. Descreve em voz alta o funeral, quem estava, como choravam, etc, e deita-se na casa sem se despir.
Acorda cada dia mais cedo; tem dificuldade em dormir, embora engula com obediência comprimidos, álcool, tisanas fortes que lhe dão delírios e espasmos.
Hoje o homem da mercearia tinha-lhe dito: «Bom dia, Mademoiselle Colette», e isso surpreendeu-a extraordinariamente.
Porque desabrolhara uma fantasia quotidiana, em que Ben a olhava do outro lado dum rio, sem a reconhecer; trazia uma camisola azul-escura, e Colette estava do lado de cá, parada, colhida no conflito, sentindo uma opressão — e ele, num plano ligeiramente superior, sobre um pequeno monte, olha através dela, por cima da cabeça; e o que é olhá-la assim? Colette deseja, embaraça-se, hesita; Ben é olhado com este temor, mas não teme. Ele pensa, vive propriamente. Confere sentido. Porque o temor é cultivado, Colette é mais um fantasma à espera de confirmação. Dele nada escorre, no entanto. Está na posição do deus, mas não é um deus — quer dizer, precisa dela para o ser.
É um sonho recorrente. Como deixara de dormir, mas não perdera a necessidade de sonhar, convertia a noite num exercício de fantasias, mas cada vez mais rarefeito, até ficar apenas esta: Ben no cimo da elevação e ela olhando ansiosamente Ben que a não reconhece.
«Não confio no espírito», segreda-se Colette, «Escapa-se como vapor, em sonhos, pela boca, pelos olhos. Não pára. Um dia não voltará. As coisas não deviam ser assim», mas este sonho não se pode escrever, que é simplesmente isto: Ben que a olha sem a reconhecer. Talvez não seja um devaneio, então.
Quando o merceeiro a trata pelo nome, o espanto vem do facto de ver reconhecida uma existência que ela própria sente diluir-se cada vez mais: já desistiu de ser mademoiselle, de se chamar Colette, de viver na transparência das identificações e dos nomes.
Quando Monsieur entra, decide contar-lhe a memória de um último sonho (apareceu-lhe de repente como uma absoluta necessidade, a série de imagens firmemente gizada na evocação): «Estou sozinha na praia, o mar bravo; encontro um colchão de espuma e lanço-me nele ao mar; as ondas estão altas, avanço todavia. Aparece então um peixe monstruoso, uma espécie de raia vertical que me persegue. Quero fugir de novo para a praia, mas ela desapareceu.»
E ficam ambos silenciosos à espera, muito tempo.
Monsieur trouxe uma mala de couro, castanha, com monograma. Não a abre logo. Senta-se na cama a respirar, abrindo e fechando a boca ostensivamente, como um peixe brilhante de lismo. A mala recorta-se sobre a colcha de renda, faz-lhe lembrar um estojo de costura ridiculamente ampliado.
Uma vez Colette quisera manter aspidistras. Considerava-as boa companhia. E é preciso falar-lhes docemente, regá-las de água temperada. Elas espalham as folhas, crescem, alargam. Colete sonhava com o verde das aspidistras contra as cortinas, como seriam boa companhia, bonitas de ver.
Ben considera a encenação do suicídio, rebusca as gavetas; é uma história interessante, a suicidada com a manga do vestido rasgada até ao ombro. Pede especulação, análise aturada. Todos os papéis desapareceram, mesmo um «diário» de que Ben julga lembrar-se. No jornal hão-de pedir-lhe detalhes, opiniões fundadas, calcula o número de palavras dividindo-se em colunas, o tamanho dos títulos, com avidez.
Há um vergão no pescoço de Colette, o rosto inchado, madeixas de cabelo sobre a testa e as orelhas: Ben anota tudo isso num caderno, a camisa-de-dormir pousada como um espantalho sobre a cama, os lençóis puxados para trás desenhando um triângulo rectângulo exemplar, como um envelope.
Deitam Colette, tiram-lhe fotografias. Ben procura os melhores pontos-de-vista, em grande plano aparecem o pescoço macerado e o rosto perplexamente morto; ficou alguma roupa no armário. Dois frascos de perfume quase cheios, afastados da escova eriçada, em linha recta; o espelho redondo, a caixa dos comprimidos, o cinzeiro, paralelos; Ben desenha essa figura no caderno, um rectângulo.
A fauna inóspita dos objectos de quarto-de-dormir: ordenada, imperturbável; assim Colette sobre a cama, um pé calçado outro descalço.
EXCELÊNCIA
Tendo recebido na segunda-feira, 14 de Agosto, o terceiro aviso de que deveria comparecer neste Centro para tratar de assunto do meu interesse, e dispensada do meu trabalho regular pela excelente generosidade do subchefe de secção, Sr. C. de F., aqui me dirigi cerca das catorze horas do referido dia. Esperando meia hora pela abertura dos guichés como era meu dever. O caso, de que V. Ex.a estará com certeza informado, parecia simples e de rápida solução: a própria contrafé mencionava o facto, intimando à apresentação da minha identidade no Departamento de Erros Lógicos (1.a instância-Inadvertência). Não foram, no entanto, da mesma opinião os funcionários de V. Ex.a. Os das Dificuldades Dedutivas afirmavam: que era da alçada da Coordenadora; os do Desconhecimento e/ou Mau Uso de Axiomas consideravam, teimosamente, o Não-Sentido; os das Violações das Regras de Inferência pendiam antes para as Falácias e havia pelo menos um dos das Deficiências Simbológicas e Ambivalências que se ria, com licença de V. Ex.a, afirmando todo o caso absurdo e decididamente fora do âmbito disciplinar do Centro de Vigilância Lógica.
Mas o atentamente seu Inspector-Director-Vigilante daquele Departamento decide que a contrafé teria de ser examinada pelo menos por um outro colega, enca-minhando-me para o Departamento de Falácias (último corredor, terceira porta à direita). Leu assim o funcionário: que M. (sou eu) disse a certa altura que a «única verdadeira contradição é a contradição entre a contradição e a não-contradição», avaliando:
«É Não-Sentido.» A seguir leu: «pelo facto de entrar em contradição, responderá perante a Administração do Centro de Vigilância Lógica». Declaro que decidiu o funcionário: «É Não-Sentido. É outra Secção.» Arredondei-lhe o dedo para aquela outra passagem da contrafé (que diz) faz sentido grave assinado Inspector-Director Geral (adjunto de V. Ex.a); onde o funcionário expirou e recolheu a cabeça. Saiba V. Ex.a que esperei ainda alguns quartos de hora até ser informada de que ali eram paradoxos e havia fortes suspeitas de que o meu caso fosse: Falácia. Segundo corredor à esquerda, primeira porta à esquerda, como V. Ex.a sabe. Na sala de audiências um réu defendia-se brandamente, jurava fidelidade ao Princípio do Terceiro Excluído; o júri inteiramente constituído por pequenas máquinas de calcular. Onde o senhor funcionário dos Sofismas, Falácias e Paradoxos, Psicologismo e Insuficiente Insight Axiomático (secção Falácias) rapou gulosamente do processo que leu até fazer: «É não-sentido» a dada altura ao que eu lhe repeti a operação ao que ele expirou e se recolheu. Voltou a dizer que era nitidamente um caso para a Coordenadora ou da Contradição propriamente dita e que (cito) o funcionário só vem lá para as quatro e tal e que faça posto isto o obséquio de esperar na sala destinada para o efeito; língua de funcionário, saiba V. Ex.a língua entre dentes todo o dia a transpirar: língua quadriculada, fita métrica, esquadro sem vontade.
«A nossa força é a força da Razão» está no cartaz de propaganda e «Biológica: a lógica da vida. Começamos sempre por si». Outra língua, como V. Ex.a sabe. E na sala de audiências, se isto diverte V. Ex.a, um dos membros do júri retinia com benevolência uma voz impessoal: «x de y sobre três? você já viu no que se vai meter? nunca...» ao que respondia um réu alucinado: «sim x de y sobre três. E digo-lhe mais: três ao quadrado sobre raiz de i, se for caso disso». Enfim, V. Ex.a já viu onde eu quero chegar.
Há que saber que os funcionários desta casa se dividem em quatro grupos, tantos quantos os Departamentos do Centro — os Erros, os Sofismas, a Coordenadora ou Contradição e o Não-Sentido a que chamam respectivamente os Eros, os Sofias, etc; há sobretudo que saber que de todos os mais lentos, com licença de V. Ex.a, são seguramente os umbrosos Coordenadores. Os quais passam a maior parte do tempo útil em discussões que se adivinham polémicas, apaixonantes, mas o trabalho, e essa é que é essa, fica por fazer. Declaro que não me queixo a V. Ex.a, todos sabemos como é árdua a administração e o bom andamento dum Centro desta envergadura que lida com matérias tão (digamos, pelo menos) delicadas.
Cair em contradição, parece claramente ser o meu caso; não que eu queira de algum modo imiscuir-me nas esferas deliberativas do Centro, mas talvez se eu pudesse esclarecer as minhas intenções, o processo avançasse finalmente para um inevitável fim harmonioso. Asseguro V. Ex.a de que não sou uma adolescente escudada nas características duma idade ingrata que aproveita para a prática insensata de toda a sorte de princípios irracionais; que não sou uma dessas velhas tão falhas de memória incapazes de recitar o poema imortal de Parménides; nunca pensei em entrar deliberadamente em contradição (crime de 2.a instância), para o qual concorrem a consciência, a maldade e a vontade de jogar a jogos; longíssima de mim sequer a imaginação que requerem as três últimas instâncias, as mais abjectas, perseverar na contradição, argumentar a favor da contradição e (ousarei mencioná-la?) rir-se da lógica formal.
Tenha V. Ex.a a bondade de reparar que caí em contradição (se é que caí, mas convenhamos que essa é uma questão puramente académica que os Coordenadores ainda hoje discutem) por inadvertência e tédio, já que a frase desoladora me ocorreu numa emergência, em reunião informal de amigos. Que não tenho precedentes criminais de espécie alguma (a minha média são três a quatro pontos por semana, por contradições, aliás, mais ou menos autorizadas, o que é apenas humano), que em toda a minha vida lógica paguei apenas cinco multas menores e sofri duas advertências disciplinares (uma delas não passou duma insinuação), segui dois cursos intensivos punitivos (quando a média, como V. Ex.a sabe, se situa muito para além dos cinco...); que fui registada exactamente no dia do meu sétimo aniversário por descender duma família que nunca se furtou às suas responsabilidades racionais, o que é indubitavelmente um ponto a meu favor.
Considere V. Ex.a que reputo a frase incriminatória como um puro Não-Sentido, senão de facto, pelo menos ao nível da intenção; e que só reparei na contradição quando ma fizeram reconhecer; sem querer insinuar o que quer que seja de menos respeitoso das instituições, parece-me que a pedra de toque do caso foi a decisão do Inspector-Director-Geral, adjunto de V. Ex.a, decisão que não discuto mas com a qual estão os Coordenadores um pouco embaraçados. Faz sentido, decidiu o Inspector, mas que sentido é o que se perguntam os funcionários. Penso que ficariam muito satisfeitos se o processo fosse arquivado ou, pelo menos, passado para outro Departamento.
- Ex.a terá a sua opinião. Considero, no entanto, com licença de V. Ex.a, necessário, para salvaguardar o prestígio desta Casa que tanto lhe deve, seja levada a cabo uma efectiva vigilância lógica: que me seja dada uma resposta, favorável ou desfavorável. Já lá vão oito meses desde que me encostei ao guiché n.º 1, declaro que não me lamento, mas perdi o emprego que a benevolência do meu subchefe tornava precioso e a família continua sem saber o meu paradeiro.
Por tudo o que ficou exposto, rogo a V. Ex.a se digne dar ordem para que me deixem escrever um postal ilustrado com saudades para os meus, o mais brevemente que for possível a V. Ex.a.
Pede deferimento
27 de Março, M.
TRIÂNGULO
Rue de Rivoli, 20. Escolher o dedo que impressionará o botão da campainha. No mundo tudo são insignificantes decisões principais, emergindo e naufragando num plasma de medos. Mas a porta só abre depois de iniciação sumária, rigorosa, terminando na revelação da série de algarismos— 173, o código do cofre/coldre, donde dispara o clique que puxa a mão, empurra a porta.
Só abre de cima, Annie. Subo a escadaria metade-sombra, além do patamar; vou-me encarquilhando para os números, suspeitando onde é o esquerdo, talvez aqui, onde vive Caramelle, as letras prata do seu nome espreitando numa cama de estrelinhas de alumínio. «Caramelle» porque um dia, num país obscuro da América Latina, perseguida por um bando de crianças que lhe pediam rebuçados — caramelo, caramelo —, distribuíra, nova Rainha Santa de grinalda, mas americana, pão transformado em doces.
Pergunto por Annie, a amiga de Rosário. É ela mesma, de sandálias de couro e unhas vermelhas nos pés; usa óculos descaradamente, considero-a desde logo alguns furos acima da susceptibilidade das mulheres-—frescura do Metropolitano de Paris.Tailleurs et Talons. Annie permanece na penumbra, resguardada por um manequim de chapéu alto, enquanto lhe digo quem sou — na medida do possível, já que hoje é mau dia para me identificar — e ao que venho. Convida-me para tomar café, aponta-me a cozinha; salto por cima da cadeira para me sentar do lado de lá da inesperada mesa-redonda. Estou muito deprimida e sinto dificuldade em conversar. Annie olha-me, encoraja-me.
Voltou a descer o véu incolor que me separa do mundo, o véu pesado de espessura, tudo constitui agressão e ameaça. Há dias assim, em que não consigo acordar dos pesadelos, continuam a baloiçar-me à frente dos olhos, distorcendo a razão de ser das coisas. Começo por lhe dizer que não tenho onde ficar, se exceptuarmos o sótão da Maria, onde vive com um gato esquizofrénico, e peço-lhe que me deixe dormir ali por algum tempo. Mas a casa é de Caramelle que, como mais tarde virei a descobrir em todas as suas implicações, é uma artista.
É curioso como eu sinto necessidade de me justificar, de lhe dizer que não sou assim, costumava imaginar-me pelo menos uma mulher saudável, e até me ria; quem aqui está é apenas um quinzeavos, o resto anda por aí à solta no pasto dos pânicos. A Maria ralhava, dizia que eu não era o centro do mundo. Na altura, de facto, sentia-me sobretudo periférica, mesmo em relação ao conteúdo das minhas próprias camisolas. Que avejão na minha capa negra.
Não tenho ideia quanto tempo vou ficar.
Estraçalhada como estou no soro peganhento das indeliberações, lubrificada a conflitos — entre voltar para a Alemanha e re-voltar para Lisboa, terei tendência a permanecer impacientemente na Rue de Rivoli. Caramelle, mais tarde, acede.
E, nessa noite, arredo as almofadas de patchwork, os bonecos de pêlo, toda a parafernália do divertimento acamado, o cobertor de lã branca, e tomo posse da sala comum. Leio um Astérix até adormecer sob os auspícios serenos do minúsculo buda de jade, no seu nicho.
Ahmed Ali
Nessa altura tinha o hábito de não dormir de manhã. O coração batia-me depressa de mais e eu julgava ter algo no sangue, uma espécie qualquer de caruncho emocional. Procurava rebuscadas bases orgânicas para este desassossego, coligia sintomas muito físicos apal-pando-me, prevendo desenvolvimentos, afundando turbulentos dedos no caroço do corpo. Aplicava métodos requintados de defesa contra estas exigências, e marchava todo o dia desde as oito da manhã, com intervalo para cheirar o rancho da cantina universitária, apostada em quebrar pela exaustão o que era incapaz de compreender. Tinha grande necessidade de ruas e de ruído, só isso tinha ainda consistência.
Começava o dia com um café com leite, um Liberation e uma sanduíche de fiambre, a refeição forte. Esga-zeava-me para os anúncios que marcava a vermelho, com escrúpulo — au pair, baby-sitting, PBX — e outros, suspeitos, indefinidos.
Nesse dia fui até Montparnasse, onde um árabe pedia uma ajudante de mercearia; pensei que obteria o emprego, quanto mais não fosse em nome da solidariedade das minorias.
Somos ambos desconfiados, o árabe e eu. Ele tem medo que eu lhe vá aos francos e eu estou convencida de que ele se irá aproveitar da minha situação ilegal. Mas, ambos em desespero de causa, decidimos pôr-nos à prova e, depois dum curto estágio — não é teoricamente complicado o tráfego de mercearias — começo a aviar a gente do bairro que me trata simpaticamente por «Mademoiselle». Até que vendo dois limões por onze francos a uma velha quase cega que olha, indefesa, para lá de mim e me deixa retirar-lhe o conteúdo total do porta-moedas, sem gemer; atiro o punhado para a boca da gaveta. Compreendo de repente que o emprego pode ser muitíssimo proveitoso se a vizinhança abundar em velhinhas desta sorte e imagino, no caso de ser apanhada em alguma transacção menos explicável, poder ceder uma percentagem a Ahmed, que me parece um homem de senso e experiência neste campo.
Estou sozinha na mercearia, há sempre gente. Engano-me redondamente nas contas com boa-consciência, porque o árabe tem uma máquina-de-calcular, mas decidiu não me dizer como funciona. Estou segura de que me detesta. Não estou arranjada, tenho um ar de perdição que afasta (não só os árabes): o ondular da minha capa negra é de mau agoiro para esta gente sensível.
Saio para almoçar e esqueço-me de fechar a porta.
Com a Maria faço o giro habitual no supermercado, debaixo do omnividente olho eléctrico; rapamos, num louvável trabalho de equipa, um camembert e um sabonete de luxo; o dia do salmão fumado ainda estava para vir, na pompa do sabor da carne rosa derretendo-se; até o gato comeu, enjoou cedo; triunfo dos mágicos bolsos do casaco-das-compras, Steph.
A Maria previu um desfecho infeliz para a questão árabe, e a breve prazo. Contou-me histórias nojentas de exploração de estrangeiras, de rixas, expulsões, fantasmas de fronteiras, e Lisboa do outro lado obrigatoriamente. Fumamos um cigarro no jardim fazendo projectos, a contar com os proventos ilícitos das minhas actividades merceáricas. Ir para Londres, ou aos Estados Unidos onde está o João Pedro, viver, visitar. Sei que volto para Lisboa, mais cedo ou mais tarde, diz-se em surdina, ao fundo de mim. Internos corredores até à alma.
Às quatro horas volto a Montparnasse para encontrar a vizinhança em alvoroço. Os árabes tinham-se encarregado do alarme, da queixa ao proprietário, das censuras, das interrogações, dos abanares-de-cabeça, e esperavam-me agora para darem parte da minha culpa e da forma possível de reparação. Achei injusto este aparato, desproporcionado. Ninguém roubara nada. Reprimo algumas respostas pertinentes, trabalho a tarde toda à espera do patrão até às oito horas, calculando por alto os preços e desaconselhando a compra de produtos naquela mercearia.
Vinha muita gente buscar uma baguette, um litro de leite, um pacote de rebuçados, mas eu sabia que vinham sobretudo para me ver: a bronca da mercearia do Ahmed.
Uma rosa por cinco francos? Eu não compraria. Quando ele volta, despeço-me.
Annie
Annie confidencia-me pormenores da viagem à índia, sentada na cama «estilo horrível» que partilha com Caramelle. O romance com um espanhol chamado efectivamente Pablo e o ópio que, como se sabe, é um estimulante da imaginação. Lembro-me de como disse, as mãos muito abertas alisando a saia, tentando libertar-se de eufemismos: je l'aimais, carrément, tal como mais tarde, que Julie faisait sa schyzo. Espanta-me esta forma de sofisticada sinceridade, até compreender que é apenas o código tipificado da parisiense. Copine, Sympa.
Relata com crescente indulgência as pedradas do xarope para a tosse e os roubos menores nas joalharias. Annie consegue tudo isto porque tem muito bom ar, de senhora, os olhinhos redondos sublinhados de eye-liner a darem com as orelhas pequenas. Vai partir para o Brasil dentro de dois dias. É uma secretária habilitada, como o provou, a falar muitas línguas com fluência.
Annie convenceu-se de que eu sou também amiga de Rosário e não quero dissuadi-la, tanto mais que é por via desta presumida afinidade que tenho direito ao colchão e à luz da manhã filtrada pelas persianas de palhinha. Sem contar a protecção de buda. Conversamos da minha neurose, mas pouco, porque me custa: não sei o que dizer exactamente. Repito que não sou assim, há qualquer coisa que irreversivelmente se desarranjou, como se se tivesse fundido uma lâmpada. Dizem-me, mais tarde, que desaparecera realmente dos meus olhos uma certa fosforescência.
Saiu entretanto para jantar com alguém, supus um namoro ilustrado como se deve entre gente adulta, um intelectual pela certa, mas funcionário; ia com ar final, de despedida. Deixou-me com a irmã, Julie, uma Annie em gordo e mortiço que não entrou sequer nos preliminares da conversa de salão. Está sozinha, ostra e decididamente.
Tomo um banho na espantosa casa de banho de Caramelle, onde conto pares de botas de saltos, cunhas, solas diversificadas e vejo depois televisão, ignorando as múltiplas solidões que pairam um pouco acima das almofadas, persianas adentro.
Caramelle
Caramelle foi ao cinema ver o Zappa. Calçou umas botas de cunha desmesurada, porque não tem um metro e setenta. Usa óculos elípticos e uma hepatite que trata com injecções selvagens, retirando da gaveta do aparador uma seringa infecta. Ela própria a mergulha na veia, fungando e abanando a cabeça para afastar o fumo do charro entalado na boca.
Vive em Paris há quinze anos, nasceu em Seattle. Aprendeu os tiques inteiros dos parisienses e ao seu falso cosmopolitismo junta o facto muito real de se chamar Virgínia Hawks. Conhece a gente do bairro por nome e apelido, o padeiro, o merceeiro, o criado do café, os marginais; toma bebidas com os amigos, a desoras. La bohème. Quer voltar para os Estados Unidos.
Visitou-me o ruído do «Qualquer-Coisa-Motel» do Zappa, às três da madrugada, em frequência intolerável; pretendi que ia continuar a dormir, em sinal de protesto, fiz mesmo por me virar para o outro lado e resmungar, embora olhasse com fascinação, de viés, para uma Caramelle aureolada, desgrenhada e muito alta de hash que continua, apesar de tudo, o êxtase do filme. Acabei por me levantar e refugiar-me na cozinha, o rebuliço no sangue desagradado e o livro do Borges.
Tremendo de frio, de sonolenta humilhação.
Dormir já é tão difícil.
Compreendi, assim, que Caramelle era uma artista. Considerava de olho húmido tudo o que fosse avant-garde, realizando eventualmente práticas poéticas e pintando retratos e coisas mais abstractas pela noite dentro, na sala comum. O meu dormir arruina-lhe a criatividade, esmaga-lhe os infinitos talentos porque lhe invade o espaço. Ao que me diz Annie, Caramelle só dorme de dia.
Caramelle não está satisfeita comigo. Sou a nova Cécile, uma amiga que lhe vai e vem, destrambelhada, usando parábolas tímidas para pedir abrigo no cobertor de lã durante uns dias, no asilo da Rue de Rivoli. Também Cécile tem tendência para alongar irracionalmente as visitas, acusando mudamente Caramelle de imerecidas bênçãos e privilégios.
Tour Saint-Jacques
Vejo-me sair do Metro e entrar na Rue de Rivoli; duma perspectiva inusitada, debaixo, da esquerda, a capa junto ao corpo como um copo de jarro invertido, abat-jour da minha luz central. Passo por uma torre quadrangular muito alta, suponho ser a torre Saint-Jacques, com plataformas sobrepostas que mostram o vazio por arcadas e rendilhados, onde poderia haver morcegos. A torre inquietante, assimétrica, cresce no meio dum jardim quase simbólico; penso «eis um jardim que não serve para nada».
Vejo-me passar pela torre e seu jardim descrevendo meia elipse, rodando o corpo e o foco de luz que dele emana, simultaneamente; contorno a torre, mas vou na rua que a não contorna — sou como um lápis de desenhador que se aproxima e se afasta para tomar consciência das proporções e das perspectivas —; junto à minha cabeça passa uma linha que toca a parte superior da torre e aos meus pés outra que me liga aos alicerces. Estamos, assim, neste momento, embarcadas no mesmo triângulo, caso se queira desenhar um triângulo, ou qualquer outra figura, desde que se nos envolva com equanimidade.
Annie partiria para o Brasil. Caramelle tinha furores de solidão, ideias para pintar e desenhar, poemas inteiros acotovelando-se na cabeça, prontos a serem despachados para os volumosos cadernos de esboços.
A Torre Saint-Jacques fica para trás, no caminho de casa. Estamos em Julho, mas continua a chover. Já sei o código, é só tocar nos botões e a porta abre-se. Tenho a chave da porta de cima.
Annie, sentada na cozinha, afaga o buda com certa distracção, remexendo o café com o cabo da colher. Mas eu não reparo nisto senão muito mais tarde, quando já é indiferente o que Annie fazia naquela altura.
No dia seguinte parto para Lisboa.
OS ARQUIMIMOS VÃO AO BAILE
Os Arquimimos vivem juntos. Ele e ela na dupla cama. À mesa houve olhares sinuosos, coisas atiradas para o lado, até ao final afastar-do-prato sem apelo.
Saio à noite, diz, trabalho.
Crustáceo sobe as escadas devagar — ascensão jantada.
Ouve lá, vens tarde? A que horas, podes-me dizer? Mulher pede sempre por favor. Sabe-se pôr no seu lugar.
Tarde, talvez só de manhã.
Os Arquimimos são precisos nos afastamentos. Quando entram, quando saem, arredondando. Os cinemas, as visitas, separados. Os outros perguntam por ele, por ela — trabalham no plano, aceleradamente.
Lontra sabe o que há a fazer: arrumar a porcaria dos restos do jantar, alimentar os peixes, ouvir as notícias; preparar-se, então, adiando até ao gume o cerimonial, a borbulhar: dizer «agora!» e ficar gelada, com os dentes colados e as pupilas muito dilatadas. Hoje o que há-de ser? Aboloreço.
Crustáceo vem à sala para se despedir. Bonito avental; e como se tivesse dito até amanhã sai em harmonia; sorri ainda na terceira esquina quando repara que o polícia o segue de perto, junto quase aos calcanhares. Os passos de Crustáceo atraem os polícias. Não se lhe conhece um crime, mas é sempre seguido, para onde quer que vá. Todas as primeiras quintas-feiras da semana joga às adivinhas com um grupo de magos; segue depois para a casa secreta, a verdadeira, onde o espera a mulher; snecam e festejam-se reciprocamente — para ela, ele está em Sines, onde imaginam o ruído das fábricas como sirenes de nevoeiro baço, e os barcos a entrar e sair do porto, a pacatez da caserna com os outros, mostrei-lhes a tua fotografia, ah!, ah!, que belo pedaço, etc, ela encolhe os ombros. As ficções de Crustáceo cada vez mais desacolhidas, em Sines já há três complexos industriais e bases americanas, estão milhões de trabalhadores trás-trás no seu ritmo, martelando aços, exilados, como quer o sinal amarelo no capacete.
Lontra espera um telefonema. Ouve as notícias na televisão, ignorando os cataclismos, presa ao alfinete de gravata do locutor. Assim queria eu, assim um homem. E depois, espalma as mãos no avental, arrepiada, olhando para baixo, que tempo chato. Porque não telefona?
Os Arquimimos temem ser desmascarados; preocupa-os o extraordinário peso das dissimulações, que fazer da pilha de notas de ressentimento — já chegaste? estás cansado?
Prepara-se lenta, pintando com unção a boca, os olhos; o vestido vermelho; e o chapéu de chuva, um sinal de alarme nesta figura de giraldinha, pontilhada de insolências — uma luva cor-de-rosa, a boquilha longa, levemente curva. O espelho é de feira, onde surge uma Lontra baixinha e sem élan, desalcançada do próprio movimento; que fuma, chata, no arquear das pernas.
Pressente-se que esta não é uma noite qualquer, já que o telefone se não despacha — engenho caprichoso, lento nas ligações, assombrado de ruídos.
Lontra, Lontra, vamos.
O saia-e-casaco do casamento, quem o escolheu? Eu só tinha vinte anos, não sabia mais. Havia uns tios, uns primos, estava tudo assente.
O dedo indica a coluna dos cinemas, procura uma comédia italiana. O pior são os táxis, a esta hora.
A comédia italiana é um género preciso. Sabe-se que são histórias de família, ligeiramente sociais, onde uma ou outra mulher nua esplendora sem provocação; que os actores bigodudos são o mais das vezes muito bons na cama e têm um rol de escândalos morais por trás, na vida privada — sombras da própria pública figura. Lontra conhece uns e outros, sabe que o que se passa na realidade é o filme das suas vidas exaltadas que lhes causam embaraço.
Hoje Crustáceo não está em maré de adivinhar. Empastelado. Nem um branco-é-galinha-o-põe, e é o polícia que lhe segreda soluções — o sino, o saco, a porca — divertido e sem faltar aos seus deveres. Não está de folga, no entanto, realiza uma hora extraordinária. As horas extraordinárias deste polícia passa-as ele em buscas rebuscadas, por conta própria. Sem o que há muito teria assegurada a justa promoção, «os atrasos devem-se — diz o ofício — ao outro género de investigações, ditas laterais». Crustáceo já se habituou aos polícias. Ajudam-no em vezes como esta; dizem-lhe o caminho para casa, amparam-lhe as quedas quando se distrai a beber e troca as soluções; os magos riem-se, não se lembram do que é ter maus dias. Preparam todas as sessões com igual prudência — nada os poderá surpreender.
Crustáceo, que anda correndo, dorme a sonhar, ama pensando, desajusta pelo contrário o quadro das transparências e os pormenores não encaixam. Gosta de conceber a sua vida como uma máquina simples, digamos, uma régua de cálculo circular, em que a parte superior transparente (a da sua vontade) gira sobre o fixo calendário das situações.
Lontra é extremamente cuidadosa na escolha dos lugares. Prefere as coxias, que lhe dão coisas inconciliáveis — a segurança e o sentimento de liberdade. Mas quando, apagadas as luzes, um estranho se senta na cadeira do lado, o sistema estremece na raiz e interroga-se, a ranger. No escuro, claro, tudo é mil vezes mais estranho. Este é devoto de rebuçados. No intervalo são eles o fio de seda, a hipótese de teia, presentes no papel de celofane e teus para sempre. A Lontra, não é a primeira vez que lhe oferecem desta espécie de rebuçados (sugerem-lhe o nítido oposto das coxias), por isso se debate, mas sorrindo; os estranhos, que tiram de sinais contraditórios o maior partido, apertam as válvulas com fervor e colocam os braços desde logo em forma de ninho.
Assim saem juntos, perguntando-se nomes e moradas e estados civis como se preenchessem formulários, timidamente e se não é indiscrição. Sou casada, o meu marido também. Dancemos, pois que se acabaram os rebuçados.
Dançar contigo é o piáculo dos meus trintas.
No Jamaica ainda se pode entrar, as damas não pagam (em Lisboa há de todas as discriminações nos bares de putas). A fala a meio caminho entre o futuro e o embaraço de ultrapassar o presente. Depois, que farei? Três partes de cerveja para uma de veneno. O estranho nem sequer tem bigode, não é ninguém. Não tem gravata, nem alfinete, abaixo das pestanas curtinhas e claras. Quem é este estranho, que filme é este? Lontra teima em perguntar do seu ninho de fazenda. Apagam-se todas as luzes entretanto, concen-tremo-nos nos gestos.
O polícia segue Crustáceo até à porta de casa e despede-se; a chave gira, a mulher grita é o pai, as crianças vêm recebê-lo; mas estão distraídas, respondem a olhar para o chão, o pé muito lasso na chinela em modos de piafé. O trabalho?
Acabara de lavar a loiça, estava a ver televisão.
O capataz fez queixa de mim, sabes lá, porque um dia destes eu disse-lhe: olhe que você...
Os dois sentados muito juntos no sofá, ela afaga um urso de peluche laranja, de grandes olheiras. Acompanha as histórias do capataz e do Ferro, o amigo; ainda traz o avental onde limpa eternamente as mãos. Beija-o no fim da primeira série de lendas. Crustáceo recorda Lontra, sua mulher, que vê as mesmas imagens num avental semelhante, as mãos quietas no colo. Depois apaga as luzes e sobe as escadas no escuro, tacteando e tropeçando, para se treinar — quando for cega. É um jogo. Despe-se e deita-se na dupla cama.
Importuna-os o silêncio. Hoje ele não sabe imaginar. Já disse do capataz, do Ferro, mas continua sem ter sono e preenche a indecisão com festas enérgicas tapa-tapa no cabelo da mulher. Que parece desolada. Vamos sair.
Onde é que queres ir, não vês como estou cansado? Tu trabalhas de mais, sim, toda a semana. E tu à minha espera.
Um clic entre os olhos de Crustáceo, um arrepio de gratidão, param as festas. Vamos dançar.
O espaço é ressonorizado e rebarulhizado; os olhos piscam, passam-se línguas pelos dentes. Que aborrecido este divertimento, mas Lontra apenas se pergunta ir para casa com o estranho, e Crustáceo? na dupla cama?
Entra no Jamaica discretamente (dois polícias fixam-no, do outro lado da sala). A mulher segue-o. Bebem cerveja. Crustáceo tem o hábito intolerável de cantar enquanto dança, como auto-estimulação. Nunca precisou de música exterior.
Dançam Lontra e o estranho, Crustáceo e a mulher, um deles pensa que há qualquer coisa em Lontra que lhe faz lembrar Lontra, e outro que há algo de Crustáceo naquele homem que é Crustáceo; o estranho e a mulher, alheios a estas maquinações, vacilam e baloiçam na piara musicada.
68
UMA NOITE NA ÓPERA
(com Marylin Monroe)
O que é que pode acontecer a esta rapariga enquanto alisa os lençóis da cama? Não lhe pode acontecer nada. Mais tarde, talvez, seguramente. Por enquanto alisa e devaneia.
Ela pensa (como muitos de nós) que trabalha no teatro. E espera no seu vestido o aplauso, quotidianamente — a imitação do actor na sua fantasia. Mas antes alisa os lençóis, sobe ao escadote, segura no balde, muda as lâmpadas, considera a eficácia do guarda-roupa — verifica a solidez dos materiais. Gonsidera-o muito profissional.
Tudo começou quando o cérebro lhe pareceu deslizar um pouco dentro do crânio. Para a esquerda ou para a direita, não conseguia dizer. Sim, antes para a esquerda e para a direita. Mas há coisas mais subtis.
E o que é que lhe pode acontecer, verdadeiramente? Nada que não tenha já acontecido e muitas vezes — o que está escrito e só falta ser feito. Cambiar estádios de realidade. Assim mesmo, uns valem mais do que outros.
Acontece que ela se sente subitamente emoldurada. Numa cor de madeira e com embutidos, e rio alisar-dos-lençóis ela chama-lhe palco, mas não o é. Há mais quem tenha estudado o assunto.
Assim, contamos até agora com uma rapariga que alisa lençóis, primeiro com a mão esquerda e depois um toque enervado, um gesto que é um complemento, um apêndice antes, um sopro de gesto com a direita (ou é antes o outro que prefacia este, o sinal da perfeição no alisar-dos-lençóis), uma cama, três cadeiras (como? como calha) e uma pequena mesa de cozinha de que dependem um candeeiro/garrafa e um. prato de barro vidrado; se não considerarmos o tapete, nem os infinitos rendilhados das teias-de-aranha, temos ainda um banco, um vaso de cardo/cacto implantado na respectiva quantidade de solo. Ela terá de dizer: «Estás com uma voz de vestido vermelho. Que voz é essa? Tens o teu vestido vermelho? Eu também ainda não acordei completamente.» Mas isto mais tarde, ao telefone. E neste mesmo cenário.
Ah!, ela sorri. Dobrada sobre a cama, olha para cima — supostamente para o primeiro balcão, onde prometera estar a mãe, ou alguém de família chegada; um representante. Sempre se trata duma estreia.
Ainda outra coisa: há cigarros na gaveta da mesa de cozinha. Cigarros desemparelhados, fora das suas pratas; restos de maçã, um par de tesouras.
Posemos o imaginar, o olho vago, a mão junto à cara, cabeça erguida. Apenas duas posturas; primeiro esta, o alisar-dos-lençóis — o sorriso para o primeiro balcão (e de como se enrola, um pouco inclinada a cabeça, o olhar em que bate o holofote — e as sobrancelhas distendidas para deixar entrar a luz onde ela profundamente brilhe).
A seguir, uma colecção de movimentos e estados que se podem resumir a três: o acariciar das tesouras (temos de pôr como hipótese o manipular insinuante do puxador da gaveta), uma das pernas flectida, não acentuando, representar a figura chocando a mesa, um véu de cabelo escondendo o rosto. Sermos obrigados a supor a expressão dos olhos e a saber que finalmente nada nos teria sido revelado, se os tivéssemos visto. Talvez mesmo, no entusiasmo, cheguemos a firmar-lhe uma das mãos sobre o tampo da mesa, para que daí possamos inferir tremor e vacilação. Depois, o virar-da-cabeça em direcção à cama — só o aparecer-do-rosto e o levantar-dos-olhos, o desvendamento do fruto da contemplação e da carícia. A cabeça quase se não transforma, apenas se adapta às novas posições — sincopamos o movimento, veja como descreve o olhar um semicírculo a tracejado, começando por baixo, nas tesouras/levantando/pousando na cama. (Como um voo.) Aqui deve entrar alguém. Mas deixemos isso.
Na terceira figura desta série ela ergue a tesoura no ar, descobrindo nesse gesto violento um pescoço musculado e o queixo em forma de proa; e nós, espantados, descobrimos que murmura: não vale a pena e isso conforta-nos (era o que esperávamos)
Curioso que os seus pés se não desloquem com o choque. Curioso que mantenha uma perna flectida, que resulta muito artificial. Mas o grito não, o grito é genuíno. E o sangue:
— dada a fragilidade do corpo humano, o seu economizado xaile de pêlo e pele
— e dada a violência da respectiva alma.
Nós, os que lidamos com sentimentos e configurações, reclamamos gente desta, reivindicativa do nosso coreógrafo interior. Mulheres que sacudam o cabelo, expelem o fumo, reclinadas, inocentes; esta forma de sedução é que justamente resignam da subjectividade para se oferecerem «à nossa!» em holocausto, nas ínvias deliberações do espectáculo; apoteose duma pura existência para nós.
Porque no alisar-dos-lençóis pensa: está o olho que vigia.
Queremos que o pescoço se incline mais e que olhar signifique — e ei-lo na luz azul, inclinado significado.
COCKTAIL MOLOTOV
«Inventeur de la voix et de l'entendeur et de soi-même. Inventeur de soi-même pour se tenir compagnie. En rester là. Il parle de soi-même comme d'un autre. Il dit en parlant de soi, Il parle de soi comme d'un autre. Il s'imagine soi-même aussi pour se tenir compagnie. En rester là. La confusion elle aussi tient compagnie, jusqu'à un certain point. Mieux vaut l'espoir charlatan qu'aucun. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à ce qu'il se prenne à languir. De la compagnie aussi, jusqu'à un certain point. Mieux vaut un coeur languissant qu'aucun. Jusqu'à ce qu'il se prenne à crever. Ainsi en parlant de soi il conclut pour le moment, Pour le moment en rester là.»
Beckett, S. «Compagnie» 1
1 de Minuit, trad. do autor, pp. 33-34, 1980.
Que vivemos seguindo estereótipos, eis o que a minha adolescência demonstra à saciedade. Que escolhemos as imagens da ficção (ou elas nos escolheram desde sempre?) para construir a ficção da identidade e os ínvios maneirismos da diferença.
Vivia nessa altura semanas solitárias e intrigadas num colégio interno, descobrindo entre o espanto e o sereno desgosto menstruações e traições, no clima me-diocremente aterrador de convento convertido às profanas maquinações de mulherezinhas.
Era uma opressão de regras muito claras, embora eu, nos primeiros tempos, as compreendesse pouco: o que é autoridade, culpa, castigo verdadeiro; como se proíbe o espalhafato. E agia invariavelmente conforme a arrogância e a confirmação, ingénua, bem-intencionada, como se os valores da educação fossem o regozijo e a autoconfiança; hipótese absurda — um pouco mais de manha e sentido prático e teria observado logo que a cena estava decorada para a uniformidade e o silêncio. Quando o compreendi, comecei a arrastar os pés; e soltei o cabelo que trazia apanhado atrás, muito massa crado por fortuitas tesouradas de agressividade deslocada.
Janeiro, 6
Hoje não fiz nada. Levantei-me tarde, almocei e pus-me a ver televisão. Vi um filme do W. C. Fields que achei detestável. É muitíssimo irritante a maneira como ele fala, com aquela voz nasalada.
Depois dormi. E voltei a comer. E voltei a ver televisão. E voltei a dormir.
Janeiro, 13
Tenho a impressão de que Deus não existe. Hoje vi um enorme acidente na auto-estrada, um homem todo cheio de sangue estendido no chão. Era capaz de estar morto. A mulher dele chorava e pedia socorro. Estava tudo muitíssimo amachucado. Depois fui até à praia, o mar estava muito bravo.
A semana correu-me bem. Tive finalmente positiva a Português e cinco a Matemática, um valor a mais do que esperava. Vartei-me de rir na correcção do ponto, porque as minhas soluções eram normalmente o contrário do que seria correcto. As aulas são terrivelmente monótonas, excepto as de História, que são só de conversa. As horas de estudo ainda são piores, porque não me deixam escrever. A C. disse que me dava um quarto de hora por dia, antes de tocar para o jantar, para escrever as minhas coisas.
Queria tanto ser livre.
Tomei, então, conhecimento das nítidas bifurcações da hierarquia, como manchas de tinta, como lesmas, ascendentes, largando uma baba cintilante; na imitação da corte celestial, querubins e serafins encavalitados, pendurando-se nas asas dos anjos que se agarram às fraldas dos santos, quase alcançando a fita desatada da sandália de Nossa Senhora, aos pés de Cristo, junto aos olhos vazios de Deus — paródia dos poderes relativos, da formidável distorção das tentações.
Reconheci-lhes o âmbito, que era ilimitado, e a minha própria natureza: fraca e diabólica, dada a pactos e tergiversações, e sem remédio; a não ser o silêncio, a não ser o silício.
Assim se produzem as zombies que hoje somos: conflito e culpa, pias-sacras de auto-amor degolado. Porque era isto que eu concluía: que não era nada, não sabia fazer nada, não servia para nada, ninguém me queria.
E aconteceu mais qualquer coisa. Vejo-me sentada, com minha mãe, no claustro; há um banco longo, de madeira, nós juntas, a um canto; ela está comigo, do meu lado, olha em frente. Estávamos de mãos dadas, lembro-me. Tem um rosto de mártir, belo, como se através de mim sofresse uma injustiça verdadeira; e eu incapaz de dizer leva-me daqui, porque muitas coisas' nos separam já, a minha farda, os corredores, as decisões, a própria injustiça feita sobre mim, prémio da minha nova solidão.
As lajes do claustro são irregulares, há aí mortos sepultados por todo o lado; na igreja cantávamos a horário contrições, cercadas de grades e velas. A luz, nas igrejas, é tremenda. Um banho de água benta sufocante; o fumo sesgo das velas em carreiros negros, ansioso; o cheiro podre do pó a flutuar na luz.
Janeiro, 20
Esteve a chover. Tinha pensado ir até ao mar, de maneira que fiquei sem saber o que fazer. Pus-me a ler o Tintin.
Fiz o jantar. Já sei cozinhar arroz de manteiga e bifes. Também não Énada difícil.
Fevereiro, 19
A Pimpinela vai amanhã a uma festa de carnaval, perguntou-me se também queria ir. Acho que prefiro ficar em casa a ver o filme do Danny Kaye e a comer costeletas com esparguete, com as mãos, que é muito mais natural.
A única festa a que fui, o ano passado, passei-a sentada a um canto a ler o Tio Patinhas, enquanto toda a gente se divertia extraordinariamente. Voltei para casa com o rabo quadrado. Devo ter estado sentada na mesma posição (para não dar muito nas vistas) aí umas seis ou sete horas.
Desta vez fico em casa a ver televisão. É mais seguro.
Fevereiro, 25
Esteve um dia óptimo. Tive boas notas no Carnaval, já posso vir a casa todos os fins-de-semana. Tui passear com Pimpinela, ela queria trazer as irmãs mas eu disse que não estava para as aturar. Chamou-me egoísta. Toda a gente me chama egoísta.
Mas quando cheguei a casa vinha tristíssima. Quis escrever mas não saía nada de jeito, o que ainda me chateou mais. Nem isto sei fazer.
Visto de cima, das galerias, é um holocausto; mas donde eu estava — na ponta do banco, o meu lugar — era sacrifício e autocomiseração muito piedosa. Humilhados rogos de absolvição por pecados obscuros, inocentes.
Mais tarde, quando já tinha consciência das regras, a escravidão deleitava-se em truques absurdos para apaziguar a vontade de explosão — e bebíamos champô de ervas como se fosse chá, contando anedotas de santos e céus, enquanto se rezava o terço.
Nossa Senhora é que nunca se preocupou com isso, e estava mesmo junto de nós — Pimpinela e eu, que nos ríamos — no nicho. Chorava continuamente, os pés atafulhados em rosas, erguendo o rosto. Porcelana.
Foi principalmente o padre que me fez duvidar da existência de Deus, porque fedia a vinho na confissão e, invisível, perguntava avidamente sobre coisas íntimas e afora da religião, com um hálito cheio de interesse e encorajamento. Quando o verdadeiro padre condescendeu em ensinar-me o argumento ontológico, já eu tinha, como sói dizer-se, perdido a fé — ou seja, tinha-se-me ido a vontade de ajoelhar e usar silícios; deixara de se me apertar o coração quando cantava o «Salve Regina», em fininho, imaginando-me mártir nos circos romanos, e aconchegando a mantilha ao rosto; e comia de tudo, sem me impor desnecessários jejuns eucarísticos.
Mas nada disto era fácil, sequer rápido. Era um penoso renascer, atravessado por espasmos e remorsos, recaídas; olhares de viés para o altar, que eram de devoção, e de rancor, por me terem tornado impossível a fé, a bênção da graça grátis.
Ontem rebentou a luz e eu não sabia arranjá-la. Hoje o esquentador não funcionava, também não sabia arranjá-lo. Parece que há gente especializada para tudo. A minha especialidade é chatear-me e não saber fazer nada, além de falar francês e inglês.
Março, 3
Ontem, no cinema, o tipo da frente sentou-se sem eu dar por isso e fiquei com o pé entalado. Dei um grito, ficou tudo a olhar para mim. O pé a doer-me, e a gente toda a olhar. Nunca me senti tão mal na minha vida. Que medo dos outros!
Março, 10
Ontem voltei a mudar a disposição dos móveis no meu quarto. Já tentei todas as combinações possíveis, cama ao fundo, ao meio, à esquerda, à direita, e ainda não descobri como é que gosto mais.
Do que gosto mais, acho eu, éde mudar a mobília.
Março, 17
Fartaram-se de me chatear no colégio por causa da Pimpinela, dizem que nós as duas juntas fazemos um par muito perigoso. Agora só posso falar com ela cá fora, aos sábados e domingos. Esta semana foram só rezas e missas. Parece que nesta altura se condensam as orações todas. Preferia uma missa que durasse um dia inteiro, e nunca mais se pensava nisso.
80
Na linguagem da época chamo-lhe perder as ilusões, porque Deus era sobretudo responsável de punições irracionais e de normas anormais. Deus era o frágil argumento, a luz acabrunhante da igreja, absolutamente luz — crua, insensitiva, raio puro; Cristo era loiro e a Virgem gemia; o folclore infantil do cristianismo e a obrigação —esclareceu-se finalmente a inexistência de corpo por trás da voz que me sobrecarregava de penitências vis e sem imaginação.
Pimpinela comia hóstias repetidamente. Admirava a sua placidez, a serenidade com que comungava duas e três vezes seguidas, antes do pequeno-almoço; como subvertia rituais, sem voltar a cabeça, confessando pecados inexistentes — porque as horas de contrição eram tiradas ao estudo e à apertada vigilância das salas de aula.
Tínhamos segredos. Humor privado, tiques. O mesmo sentido da justiça e da evidência, os mesmos inimigos. E a perseguição que movíamos a Olhos Azuis ligava-nos uma à outra mais do que a,ele, que não sabia de nada. O que ele tinha de particular era ser alto, magro, ligeiramente encurvado, e encaixar-se no nosso ideal como uma estátua; e, embora tivesse um nariz de Cyrano, a nossa adoração desprezava o acidente e concentrava-se no essencial — no vulto, na linha, na figura.
Pimpinela teve opiniões desde muito cedo. Fazia trabalhos úteis, de enfermeira, na quinta. Lia duma ponta à outra, e com genuína solicitude, a descrição dos aparelhos circulatório e respiratório e repètia-ma, com pormenores, sem olhar para o livro. Esta era uma habilidade que me extasiava. Eu era incapaz de passar do esófago, quando me tocava a vez.
Pimpinela, ao contrário, sabia também física, e era comunista. Eu descrevia ventos e marés, atentando apenas no que poderia projectar neles, sem subtileza — a fúria, o deslumbramento, a incógnita sabedoria.
Março, 24
Hoje não fiz nada. Dormi imenso, almocei e pus-me a olhar. Lembrei-me de imensas coisas de quando era pequena, dos brinquedos — não consigo recordar-me de ter alguma vez tido um urso de peluche. Dizem que faz imensa falta. E lembrei-me dos gelados que a minha tia L. fazia na máquina, a dar à manivela, muito depressa. Eram de café. E de quando me entalaram o dedo na porta do carro, tenho a impressão que é essa a primeira dor que tive — tinha aí uns três anos.
Depois apeteceu-me escrever isto tudo, mas não saiu nada bem, de maneira que me deitei.
Março, 25
Escrevi um poema que começa assim: «Disse ao meu coração, fomos abandonados.» Não gosto nada do ão. Mas alma também é tão feio! Além de que me parece que isto já foi escrito quinhentas vezes, o século passado.
Abril, 2
Divertimo-nos muito na aula de bordados a jogar râguebi com os paninhos de ponto cruz, mas acabei por me picar valentemente quando fingia estar muito aplicada a coser a bainha daquele vestido (ou coisa parecida) que comecei há dois anos. A Dona Valentina só abana a cabeça e põe os cantos da boca para cima franzindo ao mesmo tempo os lábios. É difícil de descrever a expressão que ela faz, o que é certo é que eu fico com o estômago todo apertadinho.
E contradizia Pimpinela teimosamente, pois era essa a nossa forma de entendimento, e de continuarmos a reinar uma sobre a outra.
Nessa altura tínhamos o hábito das sociedades secretas, dos pactos de sangue, das iniciações rituais, dos nomes impossivelmente pomposos escolhidos entre deuses e heróis viking, com que nos baptizávamos em cerimónias clandestinas; todo o carnaval da vulgata do romantismo, quer dizer — do desejo inefável de que algo acontecesse, apocalíptico, definitivo, e que a felicidade ou a danação fossem, duma vez por todas; mas o nosso lote era a permanente angústia do quotidiano vigiado onde a solidariedade tinha sentido na resistência e aberta rebeldia.
À noite, antes de me deitar, na pequena cela onde cobrira o espelho com o pano-do-pó — treinava-me na humildade monástica, quer dizer, no ódio-próprio —, não resistia ao apelo de escrever, molemente, dum dedo inconvicto, o nome dum qualquer namorado improvável, desconhecido ainda.
Mantinha um «diário» com displicência; era onde, ao fim das tardes, extravasava mágoas e pressões, primitivas erupções metafísicas e morais. É um diário irregular, ao vagar dos humores; as duas expressões fundamentais, egoísmo e amor, são as duas faces desse tempo que agora imagino seco, despovoado, contradito — entre a vontade de expansão e a faca do medo.
Gostaria de apresentar um «eu» verosímil, consistente; mas quanto mais releio o diário, maior é a perplexidade acerca desses anos, o que eu seria possivelmente nessa altura — talvez a personagem que agora construo seja fictícia, como o era a personagem que escreveu estes «hoje não fiz nada», ou «ontem fui dar um passeio». O mais importante é o que ainda não está, porque a fala é a forma de ir sempre dizendo outras coisas.
Gostava de saber para que é que me vai servir esta educação. Não gosto de paninhos bordados — a avó tem uma grande quantidade deles espalhados pela sala, por cima dos sofás, das mesas, etc. e vestidos também uso pouco, e compro feitos.
Abril, 4
Estamos a fazer um campeonato de basquetebol no colégio. Sinto-me completamente incapaz de acertar no cesto, de maneira que faço uma figura bastante ridícula, a correr esbaforida dum lado para o outro no campo, aos gritos, e a dar instruções que ninguém ouve. O primeiro jogo perdemos 22-6, o segundo é nossa última oportunidade, 18-2, e estes dois pontos foram marcados por causa duma penalidade.
Tive negativa a ginástica, o que me priva da saída ao fim-de-semana; mas não sei muito bem como é que hei-de estudar ginástica ao sábado, de maneira que resolvi pôr-me a fazer flexões na sala de aula, o que não agradou à C, que me pôs na rua. Espero que isto não me traga mais complicações.
Abril, 6
Não me apetece nada fazer o trabalho da casa, mas alguém tem de fazer, não é verdade? O que não entendo é porque é que tenho de ser eu. Ou melhor, porque ê que nasci rapariga.
Levantava-me, ao fim-de-semana, ritualmente cedo; vagueava todo o dia sozinha — Pimpinela dividia-se entre a quinta no Norte e o nosso reino —, fabulando poemas ao vento e inventando telúricas relações com outros elementos. O mar, sobretudo.
Mas a separação era já um facto e eu apenas resumia posições literárias imitadas dos bons e muito maus poetas da Biblioteca das Raparigas. O mais ousado, o saudoso conde de Monsaraz, fabricara sonetos de molde alentejano sobre os quais, aos doze anos, concluía serem de amor, quer galante, quer desesperado, mas sempre mal correspondido. E era exactamente isso que me dizia respeito, já que o abandono e a vontade de diferença são, nessa altura, a linguagem do meu isolamento. O universo ainda não ameaçava; era apenas um enorme caldeirão em que naufragaria, mais cedo ou mais tarde, e o que quer que fizesse, confundida, deliberando.
Pimpinela e eu tínhamos um reino. Era um baldio, junto dum campo de trigo. Dominávamos aí a carcaça dum automóvel, um barco decrépito, uma máquina de alcatroar e alguns animais. Armazenávamos pedras. Abrigávamos cães em cobertores velhos, dentro da carcaça. E conversávamos longamente do colégio, do estudo, de casa, do calvário da adolescência.
Não vou dizer que espontaneamente imaginámos ir a Veneza, ou correr touros com a máquina de alcatroar; limitávamo-nos a fazer o que esperavam de nós, e agíamos com despreocupação. Praticávamos uma espécie de basebol com paus e pedras, que custou alguns vidros e precipitação — mas como tudo isso era vazio e impotente, à noite, ao limpar dos pratos depois do jantar, havia o desejo dum brincar verdadeiro, sem imagens para realizar, inventado do princípio.
Um desejo de crescer para fora, mas de dentro.
Abril, 7
Para a semana temos um retiro no colégio, o que vai ser óptimo. Não temos aulas, nem estudos, apenas umas rezas e umas horas de prédicas e meditações. O ano passado foi uma chatice, porque não nos deixavam conversar. Mas sempre se arranja uma maneira, e lembro-me de estar com a Tsi, sentada à porta da sala do retiro, a cantar músicas religiosas, mas com letras inventadas, mesmo nada de igreja. Depois inventámos cantigas à Nossa Senhora, mas já me esqueci.
Houve ainda uma coisa horrível, que foi a D. apaixonar-se pelo padre e ainda por cima, feita parva, dizer-lho. O padre foi fazer queixa à directora, o filho da mãe, e obrigaram a pobre D. a confessar-se em público e a pedir perdão. Nós estávamos todas parvas e com o coração pequenino; senti-me terrivelmente humilhada por causa dela, pelo que lhe estavam a fazer. É uma miúda muito fechada, fica o tempo todo no colégio. Parece que não tem família.
Abril, 14
O retiro afinal foi uma chatice. Abusaram um bocado das vias sacras e faziam-nos rezar tardes inteiras pela conversão da Rússia; os temas de meditação eram impossíveis, o casamento religioso, a missão da mulher, viver em Cristo, e por aí fora. Pimpinela e eu passámos o tempo a brincar aos papelinhos, a contar histórias — ela começa uma história e passa-me o papel e eu continuo a história sem ver o que ela escreveu. No fim temos coisas perfeitamente incríveis.
Assim nos apaixonámos por Olhos Azuis, que era uma forma segura de adiar os compromissos da juventude. Perseguíamo-lo na rua, escrevíamos-lhe cartas anónimas, muito pensadas; a nossa táctica era ver sem sermos vistas, e era esse o sumo da idade — um ambíguo dom através da exibição.
Quando Pimpinela não estava, eu escondia-me. É difícil compreender porquê; a minha adolescência teve muito do típico crescimento do gordo — ânsias alimentares, delírios anfetamínicos, relações enervadas; no desfolhar boquiaberto das revistas de modas, os manequins sorriem magros sorrisos enjoados, é a estação de Twiggy-pernitas-de-arame. O meu corpo não entra na moldura, é o horror de não possuir imagem aceitável. Feia e gorda, repito no diário, cinco vezes.
É que me vejo crescer, e fascinada pelo que se passa comigo. O corpo transforma-se, dói-me, quero ignorá-lo; é um apêndice embaraçoso que os poemas e devaneios líricos jamais referem; mas quando penso, quando escolho ideais, cresci — quando desejo — e o corpo é a dízima paga à ordem geral do mundo.
Talvez tivesse querido, num ponto ou noutro, decidir entre o casamento e a inteligência, e acabado por optar por uma desesperada mística do amor, desumana, impossível — que me dava o sentido da paciente espera do príncipe total; da nova forma da santa resignação; do fatal desencontro dos seres concretos no mundo e de como saná-lo na literatura. Mas isso foi mais tarde. Agora tinha treze anos, foi em 68.
Comecei por essa altura a tentar convencer-me de várias coisas. Uma delas era que havia de morrer cedo (hesitava entre o acidente fatal e o fatal suicídio); outra, que seria para sempre infeliz.
Abril, 15
Hoje resolvi dar um grande corte na franja, pareço uma asilada.
A C. disse que eu era maluquinha. E uma miúda do 2.º ano disse que qualquer pessoa me poderia reconhecer por causa do penacho, sem outras indicações.
Mas nada disto tem importância. Ele torna a crescer.
Abril, 20
Ontem, no cinema, a mesma cena do pé entalado. Desta vez aguentei a dor muito caladinha até ao intervalo. E o malandro pesava aí uns cem quilos. O filme era muito bonito (embora eu não tivesse capacidade de concentração para compreender a primeira parte) e os actores eram estupendos.
Abril, 21
Farto-me de cortar os dedos, sem dar por isso. Ontem, a cortar cebolas, trás, lá se foi um bocado do indicador. E depois deita tudo imenso sangue.
Gostava de ter no meu quarto só coisas redondas; ando sempre às topadas e fico coberta de nódoas negras. Há uma arca aos pés da cama com uns cantos muito espetados. Estive a colar uns posters na parede, arranjei um do Bob Dylan todo psicadélico. Vou ter de pintar as paredes doutra cor, mais cedo ou mais tarde.
Pergunto-me se é possível modelar uma personagem convincente com estes dados. Um diário, alguns poemas, uma memória que indefinidamente interpreta. Fotografias, histórias que se contam.
O que é que me interessava em 68?
Discutia políticas, por exemplo. Quer dizer, repetia, distorcendo, o que ouvia dizer em casa. Lia livros. Escrevia poemas. (Todos eles falam da morte.) Mar, olhar, ilusão, sonho. Gritar a verdade. A imagem do Poeta, romântica de inegável peso — o do coração da triste alegria.
Formas secretas de me vingar do ultraje mundano. O correspondente intelectual do lamber das feridas, e em privado. Porque o estudo era essa implacável aridez, das equações à divisão de orações.
«Tão triste, tudo tão triste / a chuva lá fora / as árvores desfolhadas / as pedras insensíveis» — Paisagens da adolescência: impotentes, escalavradas, onde não há ninguém. «O mar bate revoltado na areia, porque ela não o deixa expandir-se» — imagem de mim encostando a fronte no vidro, revolta aplacada no prosaico frio, vou ficando aqui, até... «A areia obriga-o a deter a sua vingança / contra os que vivem do seu sangue.» O que são estas palavras vampíricas, imagem de mim no colete de forças, quase cristalizada como se eu e o vidro irmãos-siameses.
Chamava na altura desilusão ao que não era mais do que vontade de ser; vontade de falar aos outros; vontade de que os mitos fossem verdade e que num sopro aparecesse natural o livre sentido das coisas.
É que a adolescência é uma idade metafísica e só depois, com a «desilusão», quer dizer, com a percepção da nossa incapacidade de nos mantermos fiéis, se agarram as entranhas do movimento como as crinas fatalmente do cavalo partido a galope — compreendemos a história quando começamos a ter história, e eis-nos dialécticos.
Abril, 23
Pimpinela veio passar a tarde com as irmãs. Trata-as como se fossem filhas dela. Estou gordíssima e toda a gente me chateia com isso, mas cada vez me apetece mais comer. Há tão pouca coisa que dê verdadeiramente gozo, que um holito aqui, um bolito ali vai mantendo a gente com a dentuça toda à mostra.
Jogámos às cartas, mas não tenho assim grande paciência. E como a sorte também não ajuda...
De resto, tenho andado tristíssima, não sei porquê. Tudo me fere, tudo o que me dizem ou me mandam fazer. Porque é que as pessoas não se dão bem? Não se deixam umas às outras em paz?
As minhas árvores são tão simpáticas, não falam. Quando eu lhes faço perguntas, abanam os ramos. E se o amor universal fosse possível?
Abril, 27
O filme que fui ver ontem era uma grande chachada, tive dificuldade em manter os olhos abertos até ao fim. Mas no intervalo lá estava Olhos Azuis com a namorada, fumando, muito descansado. Pimpinela vai ficar cheia de raivinhas.
Ela agora anda a ler umas coisas esquisitíssimas, só me fala da luta de classes e do operariado, e da economia; já lhe disse que ainda não temos idade para revolucionárias — eu cá mudo de opinião todas as semanas, não tenho certeza de nada.
Mas no fim, no pensamento do fim da história, tremeluz a ânsia de repouso, o vislumbre do acabado conceito, embora mortífero. Ser eu.
Há, por acaso, a sensação de se ter perdido algures uma oportunidade, a única, de sair tangencialmente para outras aventuras.
É capaz de ter sido importante, essa'confissão avinhada. Penso que posso ter mantido em relação às crenças uma certa perplexidade, uma distância; procurava uma coisa singular, onde pudesse estar inteira, e aceitar-me. Mas só considerava as coisas minhas, na medida em que me esquecia de onde tinham vindo. No diário gloso indefinidamente o tema — quero ser eu — e se já conhecia as vicissitudes da identidade, ainda não podia estar segura da sua ficção.
Isso também veio mais tarde, depois de inúmeras metamorfoses.
Ainda não tinha o cinismo destes anos, que é uma forma alterada de pudor; aí, ar de morte, talvez só literatura; e o que era o real? Pimpinela e eu partindo vidros, construindo carrinhos de caixotes; impossível já falar com outros. E o sono.
As horas de sono; pesado, oblívio; tinha uma janela grande e três árvores com nome próprio, no passeio; estudava-lhes as sombras, enquanto desenhava monstros, à tarde; tinha sensações açucaradas pela noite, antes de me deitar, olhando estrelas sem as reconhecer, ouvindo música: Across the TJniverse... Não era que quisesse ser astronauta; queria voar eu mesma como uma nave, calada, sem saber astronomia. Ou física.
Universo, espaço, ir.
Era assim que namorava o mundo, solitariamente; mas, ao querer aproximar a dissolução, o espasmo último desintegrador, aparecia o fantasma branco do licorne, alçando os cantos dos lábios, e eu perdia-me.
Abril, 28
Apanhei um grandessíssimo susto. Estava a tomar banho e esqueci-me de respirar. Não me conseguia lembrar, durante uns segundos, de como é que se respira. Fiquei assim suspensa, bastante cheia de medo, até que lá me resolvi. Tinha acontecido não saber engolir, mas engolir sempre é um bocado mais complicado do que respirar.
Passei o dia sozinha a passear pelos campos. Fui até ao reino, mas estavam lá uns homens a arranjar a máquina, de maneira que voltei para trás. O mar estava óptimo, e a praia quase deserta.
Maio, 5
Fartei-me de dormir, estou com a cabeça empaste-ladissima. À noite escrevi um poema, nada de especial. Ontem fui ver um bailado no gelo, em patins^ uma coisa totalmente ridícula. Parecem uns sempre-em-pê, elas com uns tutus e umas grandes botifarras, e eles muito justinhos e com umas grandes botifarras. Metade pássaros, metade frankensteins.
Escrevemos a Olhos Azuis. Dizemos que o consideramos um espião perigoso e que esteja atento. Enfim, umas ameaçazitas. A F. quer-se juntar à nossa sociedade secreta, mas nós temos de pensar nas provas de iniciação, e mesmo se queremos que ela entre. Dá sempre jeito para fazer os trabalhos chatos.
Ao almoço houvera escândalo; afirmara que nunca me casaria, que nem por isso recolheria ao convento, que agiria conforme a fome própria, a convicção, e sem marido; que essas eram redes contra o mundo, onde nos deveríamos lançar apaixonadamente. Mas não era uma criatura fervorosa. Vivia de entusiasmos, apatias, oscilando; remexia-me nas imagens como num banho de tinta, espesso, visgoso, abafado.
Passei por casa de Pimpinela, assobiando. Quando nos vimos, ao ar de conspiração, foi como se já estivesse tudo feito, tudo acontecido.
Mas na estação de serviço o homem nem sequer nos perguntou para que nos serviria um quarto de litro de gasolina numa garrafa de Schweppes gasosa; tenho a impressão de que não ríamos, perras de empenhamento. Andámos todo o caminho até à praia, eu de garrafa na mão como uma idiota, Pimpinela discorrendo sobre a melhor ordem dos elementos num cocktail, se primeiro se coloca a areia e depois a gasolina, ou vice-versa. Digo-lhe que tanto faz, que a areia irá sempre para o fundo. E era preciso um trapo, para fazer a mecha.
Tivemos de voltar a casa dela, que trouxe da cozinha um trapo novo de limpar a loiça. Fazer tudo como deve ser. Põe-se o trapo no gargalo, diz ela, e arde logo. Pimpinela sibarita do fogo, do silvo assassino.
Vira no jornal incêndios desabridos, automóveis voltados, enormes baratas a arder no tumulto; e vira como funcionam as garrafas quando se atiram, com o corpo bem inclinado, como ao bolar, no ténis; e como explodem no arremesso; imagina-se o fogo nascente no gargalo, como uma flor, inflamado pelo voo livre, o contacto íntimo com o ar.
Maio, 11
Na quarta-feira pregaram-me um grande raspanete no colégio porque, à mesa, disse que queria a parte melhor do assado para mim. Parece que é pouco cristão. Que nos devemos sacrificar. Enfim, digo eu, alguém tem de ficar com a parte melhor, não? Adivinhem: foi a C.
E é sempre a mesma coisa. Devemos ficar com o pior, e não piar. Mas quem fica com o melhor, como é?
Maio, 12
Esta semana íamos sendo apanhadas a roubar laranjas do jardim da directora, que até por acaso não valem nada, são amargas e secas (como a directora). O jardim fica por trás da creche dos pobres e tem toda a espécie de árvores de fruta. Costumávamos ir para lá o ano passado treinar-nos a subir às árvores. Pimpinela, que é mais ágil do que eu, e mais esperta, só apanha as laranjas que estão mais à mão e está sempre de atalaia. Mas eu teimo que quero uma muito especial que está no topo, de viés, e arranho-me toda para trepar à árvore. Normalmente não consigo a que quero, e con-tento-me com as que estão mais próximas. Mas, enquanto Pimpinela sai de bolsos cheios, eu saio de lá toda arranhada e com duas laranjas raquíticas e cheias de sulfato. Desta vez Pimpinela deu o alerta, mas eu estava empoleirada e, além disso, pensei que ela estava no gozo. Mesmo assim ainda tive tempo de fugir sem ser identificada. Sem laranjas.
A força, a fé que move o braço, essa vontade, não é imagem; imagem é o gesto, a atitude, a posição — a língua dos outros, placada sobre o desejo de arremessar.
O campo deserto. No quente da cerimónia, os fósforos. De que me esqueci, votada completamente aos aspectos abstractos da revolta. Mas Pimpinela, que vive toda no campo de trigo e vigia, trouxe alguns. Temos medo. Pode arder o campo até às casas. Mas isso não nos ocorre, de momento. Há que realizar a explosão, reiniciar o símbolo arquetípico da catástrofe redentora; no jornal a fotografia não era muito clara, por causa do fumo — vê-se ao fundo gente a correr, fugindo à polícia (que se adivinha, canina, por trás do fotógrafo). Pedras arrancadas ao pavimento, à esquerda.
Sim, e no meio do cenário é o príncipe que luta contra o dragão, para me salvar. A sua espada disfarçada de garrafa de bourgogne, cheia de gasolina — no verdadeiro centro; à sua volta corre gente, polícias, e o próprio príncipe, que talvez seja arrastado não se sabe para onde, no lançamento.
É assim que vejo o que há a fazer. Mas não resulta logo — a garrafa aterra a dois metros, muda, desinteressante; foi Pimpinela, que não tem o verdadeiro gosto do espectáculo, mas é racionalista e segue unicamente leis escolares. Não é que lhe falte audácia, mas imaginação — e espera maravilhas da natureza, através da pura descrição, sem ajudar. Isto não é o aparelho circulatório, embora lá esteja o coração, latejando. É pura existência literária.
Eu, ao contrário, ergo o braço bem alto, atrás. Trago um vestido branco de anjo vingador. Sustento que o fogo é azul, ou pode sê-lo, em circunstâncias como esta — em que é preciso pintar um quadro vivo.
Estou pronta para a máquina de filmar, ou outra qualquer que não deixe perder o meu gesto. Pelo menos por agora.
Maio, 20
Ontem não fiz nada. Ou seja, estive toda a tarde muito zonza a tentar escrever qualquer coisa, mas só me saíam banalidades sem graça nenhuma.
Estive sozinha. Pimpinela tem de estudar. Estou sempre sozinha?
Maio, 21
Fui pela primeira vez este ano à piscina. Estão as pessoas do costume. Algumas raparigas do colégio, que procuro evitar. Passei o muro para ir tomar banho ao mar, mas estava bravíssimo, e estive em vias de afogamento. Pimpinela fartou-se de rir com a minha cara, dizia que eu lhe parecera um náufrago, com os olhos muito redondos e aflitos. Se calhar sou um náufrago.
Maio, 24
Esta semana tem estado um tempo horrível. Não tenho conseguido escrever nada, tenho imensos pontos e devo estudar para levantar as notas. É o que toda a gente me diz, não faço mais do que repeti-lo. Qualquer dia, as férias.
Ainda não sei se fico aqui ou se vou para o Algarve, tanto me faz; não conheço ninguém lá em baixo, mas de qualquer maneira Pimpinela não vai estar em Lisboa a maior parte das férias.
Tenho umas ideias para umas colagens, mas tenho de esperar até acabarem as aulas. Que parece que nunca mais acabam.
Essa máquina são os olhos de gato de Pimpinela, radiante, temerária, que leva as mãos aos ouvidos e se encolhe toda.
Ao trovão ideal que se esperava, substitui-se o ruído mortiço dos cacos. A garrafa partiu-se, o líquido escoou-se — e arde o campo de trigo.
FRANKENSTEIN REVISITADO
Foi numa sombria noite de Novembro que eu, Elizabeth Lavenza, rigorosamente órfã e privada de interesse pela vida em geral, recolhi à vetusta prisão que me iria ser vitalício refúgio, a cem quilómetros de X. Contava apenas dezassete anos e longa demasia do mais negro sofrimento.
A minha família era asquerosa, o pai alucinado, a mãe alcoólica, os irmãos, os dez, estropiados de irreversíveis taras; mas vivíamos felizes, já que alheios dos sonhos recíprocos e recíprocas aspirações. Na minha casa éramos todos ignorantes, o pai espancava-nos com ponderação e aplaudíamos depois quando minha mãe, que prezava a arte, trinava árias italianas de esmiuçado staccatto. Ao domingo fazíamos as pazes para ver o show na televisão, porque era inocente, barato, e servia de pretexto ao apaziguar da nossa precisão de harmonia.
Desde muito cedo suspeitei que a família não era exemplar, mas ensinavam-nos então a dignidade do infortúnio, a nobreza da calada desgraça que inibia desapertadas confidências; foi assim que minha irmã desapareceu um dia, e meus irmãos partiram um a um para a tropa, preferindo de longe a sanha da guerra organizada e o rigor dos sargentos à disseminada infâmia do lar paterno.
Quando se deu a horrível catástrofe tínhamo-nos reunido para a celebração das Festas. Procurávamos olvidar miúdas querelas entoando brejeirices que o pai magistralmente dirigia, do piano. Morreram todos na avalancha, por alturas de Stille Nacht, à qual escapei milagrosamente apenas para sofrer a mais dura e penosa das existências; única sobrevivente da trágica hecatombe, mantenho por tradição o hábito duma romagem sagrada, uma vez por ano, ao sopé da montanha que foi sepultura da minha estirpe, onde crescem hoje coloridos goivos silvestres e singelas margaridas palustres.
Resolvi ir para o music-hall.
Já aí actuava o meu primeiro e donairoso amor, cantando de barítono modas populares, num fato de muita barba e botões amarelos. Depois das regradas contradanças e outros jogos inocentes, enoivámos; e não demorou que nos transformássemos num par de artistas sérios, domésticos, discretos; até que ele deu em beber e frequentar sem moderação os banhos turcos, abandonando-me ao pútrido ambiente do espectáculo e ao seu rol de ardis, letal veneno para a puridade dos meus treze anos. E, numa noite em que a Lua derramava o sereno prateado, corri afligida e desesperada as imundas tavernas do bairro encontrando-o por fim, embriagado, nos braços de outra mulher. Possuiu-me um demolidor ataque de ferocidade e logo ali despedacei muita vestimenta e faiança, sem atender a dores nem a por favores. E o meu primeiro amor, atormentado, confessou ser homem de família e casado há alguns anos, justamente com esta senhora, mãe dos seus filhos; que se mantivera em ansioso silêncio desonesto por medo de me perder, soubesse eu a verdade crua. Este era o primeiro amor, mas eu lera já o bastante de novelas para me ser familiar a frase, a situação e o papel equivalente e duma «saraivada de miúdo bofetão» precipitei-me para debaixo dum autocarro.
Quis o execrando destino que me não considerassem imediatamente irrecuperável, o que seria apenas justo, atendendo às conclusões estatísticas que impunham o lastimoso estado de saúde mental e a média de apurado cretinismo da família.
Sim, a família era cretina, mas eu estava apaixonada.
Infrutificada a primeira tentativa, dei em vaguear pelas ruas chorando alto e arrepelando os cabelos, contando-me atribuladas peripécias na penumbra de vãos esconsos e sujas vielas; foi o início duma nervosa febre que me roubou muitos meses da doutro modo descuidada adolescência. Algo persistia, no entanto, na parte de trás do meu espírito, uma frouxa esperança de ventura.
Desisti do music-hall.
E numa carregada manhã de chuva, em que miseravelmente tiritava pelos portais, esfarrapada e esfaimada, quis a Providência que me encontrasse o excelente senhor barão de Y., que saía de casa dum conhecimento, na altura; e como na mansão senhorial havia grande necessidade dum infeliz para lustrar os egos do senhor barão e esposa, ficou resolvido que seria eu a pobre afortunada.
O grande palácio de Y. é um edifício grave, com as suas setenta e quatro janelas de ogiva perfeita, dezasseis torres e meia, pátios sombreados e lânguidas escadarias recamadas de vistoso líquen; hera trepa aos sólidos muros, jocosa da falaciosa simetria das araucárias. O esquisito interior abunda em tapeçarias, brocados, tectos lavrados, quadros de mestres celebrados, jarros estilizados, naperons bordados, animais engalanados; porcelanas finas em escaparates e outros bons recantos. Tempos risonhos!
Mas que de nuvens negras se avolumam no céu tempestuoso! Presságios!
Introduzi-me,, então, no estudo das Belas-Letras pela mão paciente de meu protector, conselheiro ajuizado na escolha de autores e reflexões adequadas à minha posição e sexo; a discussão dialógica, sabiamente conduzida, guiava-me na maravilhada descoberta das inúmeras excrescências do espírito, no que diz respeito à essência da alma e à natureza de Deus. Nutria especial afecto por autores impossivelmente chatos, para me castigar um pouco de tanta felicidade imerecida. De entre os feios, preferia Descartes Olho-de-Boga e respeitava imensamente o nariz de Espinosa, garbosamente desequilibrado; incomodava-me Sartre-Olhizaino e por isso o lia com despeitada veneração; Kierkegaard tinha razão no seu desespero, porque a natureza lhe fora avara e injusta; bonitos havia poucos, todos davam em poetas. E impossivelmente chatos são principalmente os filósofos.
Os meus protectores consideraram então que eu possuía uma cabeça e que o mais económico era pô-la a render. Decidiram, assim, enviar-me a estudos para a Universidade de Z., capítulo humanidades, para assegurar um casamento alguns furos acima da minha primitiva condição.
- é uma universidade assaz liberal, quer no aspecto estritamente académico, quer no que diz respeito aos costumes; homens e mulheres são medidos pela mesma bitola, com a diferença singular de que as mulheres são tratadas por «minha querida» e os homens por «caro senhor».
A desastrada ignorância desta tradição foi-me fatal, pois assumi que era a única a merecer os favores dos mestres, especialmente do meu segundo amor, Henri Clerval, professor de Grego, cuja feliz pronúncia de vocativos ómegas fatalmente me enfeitiçara desde o primeiro chaire!
E pecámos. Mas eu estava de novo apaixonada, e desta vez a sério.
Dia funesto! Duas semanas depois, ao ver o resultado positivo do teste de gravidez, julguei que me sorria uma bolinha vermelha de dentro duma bolinha amarela, o olho glabro do embrião que me fitava do seu espelho de urina.
Nessa noite tremenda, aconteceu ter um pesadelo de dilatadas consequências.
Estava deitada, sem poder dormir; o quarto era-me desconhecido, imagino que se tratasse dum hospital subterrâneo, totalmente branco; de quando em vez projectavam-se nas paredes sombras furtivas; era já noite alta; a chuva tamborilava lugubremente contra os vidros, e a vela estava quase consumida — quando, de súbito, se aproxima uma sombra encapuzada, trazendo nos braços uma criança que depõe a meu lado — e vi, ao bruxulear da meio-extinta luz, o vagaroso amarelo olho da criatura abrir; respirava com dificuldade e um convulsivo ímpeto agitava os seus membros.
Fui tomada de horror indescritível.
Incapaz de suportar a visão do ser que criara, precipitei-me para fora do quarto e percorri, ofegante, corredores sinuosos e túneis intermináveis, irremediavelmente terminados por portas fechadas e alçapões; vozes perseguiam-me obnóxias, as suas mãos visgosas acol-chetavam-me as vestes, pedindo-me que voltasse; ressoavam os uivos plangentes da criatura abandonada, faziam-me sufocar. Estou de novo no quarto e aproximo-me, febricitante, da cama. Ainda aí dorme a criança.
Quero fugir, mas todas as portas foram firmemente cerradas.
Acordei, abafando gritos, numa extrema agitação.
Passei o resto da noite miseravelmente. Por vezes o pulso batia tão depressa e dificilmente que sentia a palpitação de cada artéria; outras, quase sucumbi ao langor e extrema fraqueza. Misturada com o horror, sentia a amargura da desilusão; sonhos que tinham sido meu alimento e agradável repouso tão longamente, tornavam-se agora um inferno; e a mudança era tão rápida, o malogro tão completo, a impressão vivida do sonho ainda presente, de tal modo que tinha medo de estender o braço e encontrar aí a horrível criatura. O quarto, assombrado das bocas escancaradas dos alçapões, o iruído do ranger de portas, do soalho, a chuva escorregando, fúnebre, nas janelas. A imaginação desenfreou os delambidos monstros do inconsciente e o corpo cedeu, exaurido, às solicitações da doença. O meu horror à criatura não pode ser concebido. Quando pensava nela, rangia os dentes, os olhos inflamavam-se e desejava ardentemente que se extinguisse a vida que eu criara de forma tão irresponsável.
Este foi o desabrolhar duma nervosa febre que me reteve no leito largas semanas. Escrevia entretanto dolorosas missivas a Clerval, apelando, ameaçando, rogando, num frenesi que o deve, ao contrário do que pretendiam as mensagens, ter assustado e afastado de mim.
Durante este tempo pude tranquilamente reflectir, na convalescença, sobre os acasos da má-sorte, tendo-me voltado uma grande ferocidade, pois me achava injustamente vítima de coisas que se passavam bem contra a minha vontade e muito para além do meu poder. Perguntava-me como poderia suportar o rol de calamidades, o ventre a avolumar-se, as dores, o filho a crescer e a partir um dia, e a tudo assentia brandamente, segurando-me de que o amor me daria forças e a afeição encontraria os seus caminhos. Tinha medo do filho que estava para vir, do seu corpo pequeno e enrolado; endurecia e preparava-me para a sugação parasita — do meu peito, do meu coração; ficava a ouvi-lo respirar no meu sangue, privando-me dos ritmos compassados e das regulares pulsações.
Tinha também medos prosaicos, como o de morrer. A cabecinha meio-saída, entalada de través na boca do útero, a exaustão, a falta de sangue, a febre, a infecção, as dores, a falta de ar; os ossos a estalarem, a carne rasgada, o selvagem abusar da minha integridade.
Clerval veio entretanto visitar-me, oferecendo-me um frasco de compota e uma edição crítica das fábulas de Esopo. Sentou-se na sala pernacruzado, fumando. Eu vestia-me atrás do biombo, perguntei:
— Queres beber alguma coisa? Sangue, mijo, ranho?
— Mijo, obrigado.
—- Junto soda, ou gelo?
— Eu bebo puro. Não sei, continua, o corpo é teu. Deves fazer o que achares melhor.
Está uma noite serena. A lua cheia branqueia o pequeno bosque que se estende à frente da casa.
— Que céu magnífico. Tu não queres filhos, Henri, não é isto verdade?
— Partilharei a responsabilidade. Pisa-mansinho. Aperto os lábios, empalidecendo.
O príncipe excogita.
— Levo-te a fazer o aborto. Espero por ti no café. Acalma-te. Não sejas paranóica.
Estou tentada a deixar-me possuir de novo ataque de ferocidade, mas pergunto só, a terminar o lamentável oaristo:
— Um pontapé nos cornos, talvez?
Empreenderei a recuperação da megera, já que o século regurgita de mulheres compreensivas; os anjos do lar foram promovidos a luminosos anjos do sexo e consideram terminada a sua missão devastadora; mas eu não. Serei a nova bruxa.
Estas eram as conturbadas reflexões que me assaltavam, estes os negros pensamentos; no meu íntimo digladiavam-se forças e desejos contraditórios e incompatíveis. Agora queria conhecer o fruto da paixão aviltante, depois era mais forte o medo, paralisava-me o horror a vontade.
Saí para um passeio no bosque, a alma carcomida de pressentimentos. Tomei o caminho central que leva a uma pequena capela, antigo refúgio de peregrinos e ladrões — o meu coração corria, assustado pelas sombras ameaçantes e o piar agoirento dos mochos; um morcego voou rasante ao meu vestido, e retive a custo um grito de terror quando encarei uns olhos humanos que me espreitavam, lúbricos, como crepusculários, por entre o folhedo. Todo o meu ser se imobiliza no olhar paralisante; faço um gesto, quero fugir. Procuro insensatamente uma arma, um esconderijo — mas a noite negra não permite lobrigar uma ou outro. Tropeço ao aventurar um passo atrás, e caio desamparada. Tremo, gemo; transpiro, choro. E, a desistir, quase-me-deito no chão onde a mão hesitante encontra um providencial pedregulho — o homem aproxima-se, silencioso. Inclina-se para mim, o largo lenço no rosto ocultando-lhe as feições. Ergo a pedra no ar pesadamente, e numa determinação pausada atinjo uma, duas, três vezes a cabeça do assaltante. Quando ele cai, guinchando leve, eu grito e soluço: quero usar a mesma arma na minha própria destruição. A vida afigura-se-me indigna, miserável estrada de infindas humilhações e pesadume. Sento-me, inerte, a ouvir o tilintar do sangue, o arrefecer do corpo. Com mãos incertas desvendo a tremer o rosto do assassinado: das maceradas órbitas, Henri fita-me com olhos de censura, sangrento e desobrigado.
OS DOIS RELÓGIOS
Na rua, a esta hora, ele passeia-se com certeza para cá e para lá, como uma bola presa por um elástico ao tronco do candeeiro — a sombra oblíqua para um lado e a volta, o caminho reconhecido, para cá, obstinado. Dir-lhe-ei: mas hoje não, saio sozinha comigo, com o meu vestido e os meus pingentes, ficarei livre de sorrir a perguntar: e tu, queres sopa?
Um vestido vermelho. E pintar a cara, ver-me no espelho com desproporcionados olhos de formiga, serei um desenho animado. Brincos que tilintem quando eu disser que decididamente não. O restolhar e o tilintar, ruídos das fantasias do corpo.
Sento-me na mesa sobre a praia e quero pedir um copo de água salgada, começar a construir uma imagem ininteligível. À frente, um cristo fluctívago dirige-me o rosto amorfo, olhudo, por cima do colarinho. Observo-o — um homem limpo —, o nariz apoiado nas mãos cruzadas.
Ela imagina a Lua às três da manhã, diz que adora fazer directas, com um jringanor e muito hash e os amigos, dum lado as nuvens cinzentas e o fumo da aldeia, da chuva no fundo do vale; que se sente feliz, são férias, uma paisagem paradisiacal (diz), sem saber porquê vêm-lhe as lágrimas aos olhos... é a luta dos opostos, ali tão ameno e as nuvens — é o espírito do mundo que desperta, e pensou que teria de passar a cozinhar em casa, estavam a gastar o dinheiro todo, sem precisão.
Imagino uma paisagem arredondada, uma vulva respira e um rio determinado flutua entre os grandes lábios; do azul-negro ao branco, a lua cheia à direita muito apertada acima. Conheço as anfetaminas que deixam o corpo moído e a garganta seca e te obrigam a estudar Leibniz dez horas a fio, um flop-flop de ideias como moscas.
Talvez seja da minha idade, continua, mas gosto do campo. Distingo radicalmente o campo da cidade, adoro o campo; detesto a técnica, mas não suporto a falta de música, repara a música que eu curto e outras coisas... sim, uma paisagem paradisiacal e uma vida o mais possível integrada na natureza... o mal vem todo da racionalidade, Aristóteles (é uma definição polémica) dizia que o homem é um animal racional, animal e racional...
Imagino uma caverna e o escuro da caverna e o urso no escuro da caverna. Admira-me como ele hiberna, dormindo num tempo que lhe não convém — na sua pele confortável, a vida feita de Verão segundo a acertada engenharia do instinto. Imagino-me à porta da caverna, de costas para o sono do urso.
O homem apoia o rosto numa das mãos, passa um dedo por dentro do colarinho. Talvez seja o sinal adequado para que alguma coisa aconteça. De facto, o criado aproxima-se, curva-se para ouvir a encomenda. A memória que agora usa servir-lhe-á mais tarde, já na copa, para pedir um tal e tal bem passado com isto e aquilo, sem hesitar, talvez apenas um pouco afogueado do rodopio: memória transformada em crepes suzette.
Observa-me por detrás duma placa invisível, de boca aberta, onde está escrito «cena do sorriso, primeira vez, clac!».
Oiço o lento respirar do animal que dorme. E vejo muito claramente Aristóteles deixar cair a sua bola de metal tão pesada, a dor disparando do pé, contorcendo o rosto do sábio parafrasta do mundo. O grito informe, a intuição unânime — onde estou eu, pensa Aristóteles, quem me terá pisado? Acabara por esquecer o ardil próprio, fabricado expressamente para desvendar a natureza e é, neste ponto, um animal. Mas ao mesmo tempo a memória lho diz para sempre eu devo interpretar.
Mistagogia do querer.
Cena do olhar amoroso e desejoso, primeira vez. O homem incha o papo, sacode os ombros e eu, no meu canto, espero com sinceridade o cacarejo luminoso.
Imagino as cobras e os lagartos nas suas tocas à espreita. À espera que o urso adormeça, mas com medo do escuro. E é Janeiro, o urso dorme, a cobra indecisa. Como entrar na caverna, e depois de entrar como encontrá-lo, e depois de o encontrar como chegar a fazer lhe mal com autêntica vontade? — porque suspeita que afinal não é duma caverna que se trata, mas dum fojo e abominável — a chuva que há-de vir, o desabrido declinar das estações, os gestos agredindo e dissimu-lando-o. O tempo que, passando, reúne os seus triunfos.
Reparo que o seu rosto é muito regular, agora que reparo que estou sozinha. Quase estrábico. As mãos familiares, iguais às minhas; a mesma cor nos olhos, a unha raspando ao longo da risca ao meio. Farei render o vestido vermelho e os pingentes, bebo água com solenidade e sedução. Já cedi. E espero que talvez não chegue a descobrir o uso que lhe dou: pala contra os prejuízos da solidão. Pensas que tento provavelmente decidir para que lado orientar o arrebatamento. Levantar-me-ei, irei. Começarei por dizer, com dogmatismo, que detesto jantar sozinha, se não me acompanha num café e um pequeno álcool talvez?
Notem que os diálogos seguem trilhos.
Dizemos as nossas frases, fazemos as nossas partes, olhamos os nossos olhares e saudamos. A eterna fita magnética para onde aponta o foco do olho interior.
Arrumo os cigarros com vagar. A capa da carteira de fósforos entalada no maço. As chaves na palma da mão, cercadas. Olho-o ainda de relance e tremo: ele usa dois relógios, um em cada pulso. Vê-me com surpresa como saio da sala, precipitadamente. As ancas, as pernas, como corro. Elos de corrente, algemas que seguram os olhos desdentados dos mostradores.
LÉPIDO
Lépido tinha dito duas e um quarto junto ao monumento, ao olhar para cima encontras o relógio da torre, mas já são duas e meia e o relógio ainda não está. Conhecera Lépido numa festa em que ele o abordara contando como um lagarto... e a sua irmã... e uma perna, qualquer coisa que se tinha encravado... enfim uma história embaraçosa, sobretudo se considerarmos que Lépido a declamava alta e claramente, mesmo bêbedo.
Talvez do outro lado, onde há uma estátua. Bizarro como a gente se comporta nas festas: expelindo ditos alarmados pelos cantos, para dentro dos copos; nas festas, sim, é onde cada um está verdadeiramente sozinho com o seu copo, sua única defesa muito dedicada. Lépido dissera, por acaso: que tinha aprendido a ler e a escrever e que nunca tinha feito rigorosamente mais nada — e a luz filtrada pelo copo, a mão amarela que o sustenta.
Uma estátua-mulher com dois meninos; quase deitada na sombra, os passantes aos seus encontros. Lépido não está aí.
Viajaram pela sala, até à mesa — soberba, luminosa. Lépido propusera uma adivinha composta.
Provavelmente não era essa a adivinha, mas outra, em que o primeiro jogado é quem observa — que só jogando como deve ser, talvez hoje, junto ao monumento. ..
Dissera que na sala havia cinco homens que se amavam entre si e cinco mulheres que se odiavam e que apontasse quais eram, desprezando as razões do amor e do ódio, que nada disso é matéria de adivinha.
As mulheres — prioridade — ao fim de três voltas à sala localizara .quase quatro. Uma, enigmática, resistia. É preciso notar que não conhecia ninguém, e que as conclusões se sustentavam nestas duas classes de factos: olhares e gestos do corpo e, menos, palavras explícitas.
Os homens eram bem mais complicados. A mulher que chama querida está posta à prova — o olhar frio estabelece uma autoridade sobre a simpatia; um homem na mesma situação não deixa prever o seu ódio ou o seu amor: estará com outro toda a noite, ficaremos sem saber. É que as mulheres lutam pelo poder em ocasiões desajeitadas, falando sempre para os homens — embora não com eles.
Lépido notara que a virtude é necessária, sobretudo nos vícios, e o seu vício eram os métodos. Basta concentrarmo-nos nos gestos das mãos, para o que apontam, donde nos desviam, na intensidade feroz das rugas na testa — no que sugere sentimentos e bem mais, um outro rigor, fundamento do amor e do ódio objectivos e localizados. O que aparece como dissimulação é habituação a manhosas guerras.
Pensa que a intuição é o método aplicável neste jogo de adivinha. Mas os homens — como dizer? — têm medo dos gestos específicos. É o corpo todo que encarna uma ideia abstracta, uma rigidez, uma jactância, um enevoamento, que toma como sinais — e deduz. Trata-se duma guerra de conceitos.
Lépido tivera o cuidado de observar que todas as verdades são particulares; tivera ainda o cuidado suplementar de não acrescentar mais nada.
Vê finalmente o relógio da torre — são já três horas, absurdo.
Andou naquele parque sobre que espécie de carris? Imenso local mecânico, com árvores e estátuas de imitação,. meninos de cera com sorrisos que derretem ao sol e carreiros de metal e chocolate para que tudo deslize entre a estátua e o monumento, sem vacilação. E pensar na vida do escritório; que aquela tinha sido a sua primeira festa. E que tinha tanto tempo ainda.
Lépido dissera, mesmo antes de sair:
— Quem está a contar uma história está sempre e principalmente a contar outra história. Deu-lhe o copo que o segurava, as suas mãos mudaram de cor.
Às quatro horas ocorre-lhe serem possíveis mil combinações. Outras mil. Conjugar uma intuição razoável, como raramente são (e depois entusiasma-se e considera tentar deduzir intuições — mas já faz um sentido apenas ténue).
Mais tarde é hora de ponta no Parque, o relógio é muito admirado.
Lépido não virá.
Tal como suspeitara, o jogo não era aquele.
SCORNPOWER SUITE
16 de Setembro
«Este homem é moreno, duma grande inteligência. Além disso, amo-o.» O «além disso» está sublinhado a vermelho. Eu teria acentuado a frase toda, ou coisa nenhuma. O que vem a seguir, talvez: «O mundo avoluma-se.»
Estranho a forma como ela sublinha. Parece querer apontar não para o que evidencia, mas para o que vem antes, ou pouco mais à frente — e são quase sempre palavras soltas, expressões curtas. «Muito», «vem», «oh!», só na primeira página. É capaz de sublinhar a pontuação, desenhar uma seta enorme que aponte uma vírgula, um traço.
Na terceira página do primeiro capítulo: «Sorriu por cordialidade», há uma seta a anotar a linha, horizontal, da esquerda para a direita na margem e o «por» está dentro dum círculo (que também é um olho), pois a seguir, onde diz «morreu por acaso», o «acaso» está envolvido por outra roda. E quando se olha para a página, num relance, vê-se um rosto aflitivo cuja boca é o traço vermelho e os olhos o «por» e o «acaso».
Estudei estes desenhos, não sei o que hei-de concluir exactamente, se são produto da escolha arbitrária das palavras que lhes servem de elementos, ou se os elementos são escolhidos primeiro por imperiosa necessidade do texto e os desenhos um produto «arbitrário» desses elementos. Procuro exemplos.
No terceiro capítulo há uma configuração que verifica a primeira hipótese: traços cada vez mais longos, paralelos, formam uma pirâmide.
Na segunda linha, as palavras «não quero», na quarta a expressão «já que assim era», na sexta a frase «ouvi tudo em silêncio, no meu silêncio particular», na oitava uma linha completa «bem-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer, mal-me-quer», e segue-se uma pirâmide invertida cuja base é esta oitava linha
acabando na décima quarta com a fórmula «assim-indo». Mais à frente, no entanto, outra passagem sublinhada desmente a abusiva generalização daquela teoria. Trata-se dum poema, o único do livro, em diálogo. Aqui os traços são ondulados, e rareiam. De facto, apenas as palavras «ribombar» no segundo verso, e «justamente», no quarto, em lugares simétricos na página, e os três últimos versos, que são na verdade os mais cultivados, estão em evidência. «Ribombar», por várias razões: primeiro porque padeceu duma «gaffe» tipográfica e o que está escrito é «ribobar»; depois, porque a ser «ribombar» é um termo pelo menos bizarro e sem equivalente literário quando referido a insectos (fala-se do «ribombar dos insectos»); para não mencionar o prazer fonético, o escândalo semântico e a relação ao microcontexto justificam o realce. «Justamente» mereceu aturada reflexão. Talvez o tenha sublinhado por ser um termo desnecessário, eminentemente dispensável («justamente» é sempre um bordão, não quer dizer nada). É um exemplo do que disse acima, pois ao sublinhar «justamente» ela chama a atenção para o resto do verso.
Olhando, assim, para o poema, tem-se a impressão de que há ali um mar com duas gaivotas de asas muito esticadas, porque os traços quebram num ângulo quase imperceptível, ao meio.
O que mais me intriga, no entanto, é o traço que fez a toda a altura da página 152. Não é uma página particularmente significativa — mas, ao relê-la com atenção, lembrei-me de termos conversado, há bem pouco tempo, sobre o tema aí tratado. Nessa página se descrevem opiniões idênticas às minhas.
A página seguinte foi pura e simplesmente arrancada.
Mas que tipo incrível, minha querida! E como ele sublinha os livros, com régua! Aposto que usa pijamas às riscas, e casaco de quarto, e pantufas; deve apagar a luz escrupulosamente e virar-se de lado antes de adormecer!
Encontrámo-nos ontem ao fim da tarde, é estranho mas não consigo recusar-lhe nada e sacrifico-me à boa maneira dos escuteiros — não sei porquê — aturando-lhe as conversas e a mania que ele tem de dizer frases inteiras em inglês, mesmo em latim — o que é verdadeiramente imperdoável!
Emprestou-me o último do Milton Scornpower, uma coisa medianamente divertida, embora tivesse achado mais graça à trilogia pseudopolicial. Enfim, figure-toi que tinha escrito o nome, a data e o local onde o comprou, ali logo na primeira página! Não é isto infinitamente ridículo? E os comentários à margem, do tipo «interessante!», ou «boa construção», ou «bela imagem» — sempre fora de propósito. É antes um livro rigorosamente mal escrito, com muito pouca coisa interessante, ou bela, mas de tal forma estereotipado que te faz suspeitar. Não sei se já lhe passaste os olhos, pensa que é essa a única curiosidade — chama-lhe um livro tangencial.
A propôs, adorei a tua última carta, estás a escrever com unhas e dentes. Ele então escreve-me bilhetinhos-mapas-de-instruções, e mete-os dentro dos livros que me empresta. É pavorosamente irritante. Coisas do género «repara naquela personagem», «presta atenção ao capítulo quinto»; já tentei fazê-lo compreender como isto é de mau gosto e principalmente que denota como ele me considera uma parva-imbecil, não? Os homens são todos iguais, sim, mas este é terrivelmente pior que os outros! Só me pergunto a que propósito, mas a que propósito me ocupo ainda desta questão.
Porque, finalmente, repara no tempo que eu já perdi! Anteontem passei a tarde a ouvi-lo falar de Watteau. Que é um esteta, que Watteau o impressiona muitíssimo. E eu, entretanto, procurava ouvir a conversa da mesa ao lado, algo que tinha a haver com um casamento desfeito e de como as mulheres reagem sempre como vítimas, e de quanto é difícil a vida a dois, especialmente se não são mais do que dois efectivamente. Como já adivinhaste, era uma mulher que falava com um homem a propósito doutra mulher. Mas o tempo que eu demorei a compreender tudo isto! Porque o Watteau se intrometia sempre como o cretino-palerma que é!
Sabes que ele adora charadas. Acho que isso faz parte do retrato-robot do esteta. É dos que consideram que jogar xadrez é mais do que uma virtude, é uma garantia de qualidade — e, claro, ordenou-me que aprendesse o melhor que pudesse, que, mesmo assim, ainda talvez não seja suficientemente bem.
Depois, um dia, «levou-me» ao cinema, como ele próprio diz. E explicou-me o filme «duma perspectiva lúdica» e «iludindo um pseudodeterminismo artístico», que paciência! Ele é um sapo-filósofo; lembras-te dum outro tipo de que te falei — uma espécie de lagarto-bailarino? Pois este é mais do género sapo-filósofo, e estou com grande vontade de alargar esta classificação e construir uma taxonomia da zoologia masculina nesta base. Mas talvez dê muito trabalho, não? E não vale de todo a pena.
Tem apenas uma vantagem: não fuma cachimbo. Sabes como eu abomino o fumo do cachimbo, para já não falar das inúmeras implicações culturais da coisa.
Amanhã dir-lhe-ei que se acabou este entretenimento.
Ah! não, amanhã não pode ser. Convidou-me para jantar num sítio estupendo, na praia, um restaurante-bôite-pavilhão de congressos que se inaugura. O dono é amigo dele, imensamente podre de rico. Vai ser uma maçada, claro.
Mas não se pode falar destas coisas por carta.
Quando é que te decides a voar dessa maldita cidade e a vir ter comigo uns dias?
FENOMENOLOGIA DUM ESPÍRITO
Chamo-me Júlio e digo-me e redigo-me que devo vigiar atentamente, já que tudo depende só de mim. Inexplicável esta distracção. Se a circulação do sangue pára, o coração deixa de bater, a boca não respira, a pele sufoca, há que pensar nas causas, nas remotas consequências, manter no seu eixo a prodigiosa ordem das coisas. Além desta, uma voz repete «aborreço-me, aborreço-me», mas é, sob todos os pontos de vista, uma voz secundária. Um cheiro de explosão no ar, rente ao baixo-fundo. Minuciosa memória — é essa a doença, a incapacidade de se desfazer dos pormenores.
Não me acreditem, mas sou eu que mantenho a ordem do mundo. Se me distraio, distendo o músculo da preocupação uma vez, podem acontecer coisas maravilhosas, porém desnorteadas, tremendas.
Levantei-me cedo, ontem o meu trabalho era imaginar um encontro. Um amigo e um inimigo, pela manhã, o suburbano pequeno-almoço, no Parque Municipal — o meu amor e o amor dela. Para que tudo isto não passe dum simples fait divers, notem que a minha fantasia para encontros deste género é inesgotável (tenho catálogos, aliás, que se podem consultar).
A natureza é económica nas suas variações, é difícil marcar mais de três ou quatro perversidades fundamentais, essas páginas clássicas permanecem amarrotadas e cuspinhadas nos dedos fanáticos do imaginador. Do profissional.
Tinha acabado umas investigações, estava capaz de baixar à prática. O que verdadeiramente me fala ao coração é o encontro íntimo que eu mesmo presencio, impotente, à beira das lágrimas, louco de raiva e de hipotéticas vinganças sortidas. O flagrante delito, para sermos breves e chamarmos as coisas pelos seus nomes.
Notei que estava nevoeiro, ideal para encontros deste género.
Dizia que ela tem um andar elegante. Incomparável a qualquer animal, por mais selvagem que seja, ou mais obscuro. As mãos põem-se-lhe vermelhas, quando chora. Ele é baixo, dado a trejeitos de cabeça e a pis-cares-de-olhos. Sentam-se à mesa, e que hão-de dizer-se? Não, esse sorriso não. Esse é só para mim. Tique de boca, comiserando desejo. Que doenças podem surgir na memória? Esta: a mais penosa. Imaginação do passado, fabricação compulsiva de devaneio.
Mas se eu não imagino, como podem as coisas encontrar a força de acontecerem?
Ela pede um café, ele volta-se para chamar o criado. Eu estou ali mesmo, na mesa do canto; olhem um para o outro, apertem-se as mãos. Devo pensar se isto vai ou não ter importância na nossa vida comum, como vou reagir. Levanto-me, desmascaro-os em gestos ultrajados, ou saio e sofro em silêncio, morro. Há uma ponte a dois quilómetros, posso correr chorando e considerar o voo derradeiro (e a ressurreição?).
No meu catálogo são estas as duas alternativas que têm mais procura, o que me convence de que a humanidade se divide em dois grandes grupos, dum lado os arruaceiros e do outro os respectivos mártires. Nesta altura hesito debilitadamente (ao meio-dia tenho já tomadas cerca de mil e cinco decisões, no total), entre o escândalo e o suicídio ah hoc.
Ele curva-se e beija-lhe os dedos. Os «meus» dedos. Sapudos, a unha carcomida em meia-lua, de mulher que possui uma sensibilidade, mesmo uma susceptibilidade. Desta imagem do afago outra resulta inadvertidamente, e vejo-os na praia sem querer; são os olhos dela agora que me preocupam, franzidos e intensos do sol, que me seduzem. Ah, Júlio.
Este foi o primeiro sinal. É impossível trabalhar com interferências deste género, se as situações são deixadas por sua conta, pode não acontecer nada, mas é melhor evitar riscos. Eu costumava pensar, quando não tinha ainda o hábito da imaginação e este trabalho regular, que o mundo tinha leis próprias e que as coisas seguiam, quando abandonadas, o seu curso natural. Este sistema, todo teórico, tem falhas. E eu não posso arriscar quaisquer desvios, perderei tudo. Podia explicar-me melhor, mas talvez não valha a pena. Que se ligue, na lâmina do gesto circular, isto a duas coisas apenas: memória, vigilância. Ela dizia-me, por vezes, que se tratava antes da vontade. Sustento que não me parece. Que vontade se destruiria a si mesma? Existiria uma vontade de destruir essa vontade de se destruir a si mesma.
Pretendo justificar-me: estes processos são, por natureza, incontroláveis. O esforço, por isso, não diminui, ao contrário: o hábito causa necessidades rugosas de diferenciação, as exigências são gigantescas, ao meu nível; nada me satisfaz inteiramente, o catálogo impõe limitações desumanas.
Posso dizer que tive um pressentimento. E não é a primeira ameaça, tenho listas, que escondo, de quase-desastres.
As manias da natureza transformam as catástrofes num trabalho desinteressante, no horizonte fixo do abalo, da morte dolorosa. Por isso escolhi as relações entre as pessoas que, para além de estarem na moda (incaracterístico), me deleitam nas escorregadias maquinações e torpes enredos dos desejos. Maníaco, diz o médico. Antes ele, na impecável bata branca, barba loira. Notem como são piores, os modernos (os outros odiavam-nos puramente, estes gozam-nos) — a pavorosa perdição que é a memória se trata com trabalho e sexo. Eles que se sentem na armadilha e zás.
Esta imagem da praia e do olhar foi o princípio. Estou inquieto, sedento. Vi que a praia era um abismo e que, de seguida, os veria enlaçados na minha cama, enquanto eu fingia dormir. Uso desta fantasia com parcimônia, desta feroz fantasia. Velava — o coração pequeno — desperto, a cabeça grande que estalava. Não resisti: quis ver mais. (Digamos que é humano, se isso se pode dizer de mim.) Quis estar ali até que se separassem, a sua surpresa ao descobrirem-me acordado, de olho seco. Como eu tremo.
Não digo que isto se passe no futuro, é de certeza agora, ali mesmo.
Porque é que eu penso assim nisto?
Por esta altura já a situação no Parque Municipal estava totalmente fora de controle; ela ri-se, sacode-se. Gosto dele duma forma suave. Conheço-lhe os desesperos, simpatizo. Olho-o da mesa do canto e quero tocar-lhe o ombro fraternalmente, espanta-me que ele não me veja. E quando lhe sacudo a manga do casaco permanece imperturbável.
Isto é um sonho, digo.
Compreendi que estava perdido. Enfim iludido o desejo de imaginar: porque as imagens se geram umas nas outras nos seus ventres, trespassam-me: eles vão de barco, está lua cheia, não tenho vontade. (Confesso que sinto uma certa curiosidade em saber o que poderá advir deste meu lapso.)
O cheiro de explosão, sinto-o, é um pequeno a olhar uma folha de papel num pátio; tinha discutido acaloradamente, mas quê, a Mademoiselle nunca admitiria que aquilo era um choupo, um choupo genuíno, dos que chilreiam (o que eu passei por causa desse choupo); e do som vem uma figura longilínea e ameaçadora, por enquanto irreconhecível, que me acompanha até ao lago, aos patos, à sensação da água mole e morna de noite. É isto que acontece. ``A memória fixou-se; recorrem para sempre falas, tempos, punhos — e os sentidos autonomizam-se, coalhados na imaginação própria.
A desordem será enorme. O mundo exterior, quando nem sequer tentamos regulá-lo, segue um curso indecifrável e é-nos opaco, opaco: onde estarão eles agora, que me importa?
Os candeeiros desapareceram do tecto. Eram bons candeeiros, e serviam, embora não fossem exactamente candeeiros quando os comprou. O facto é que se transformaram em candeeiros, e isso, de momento, bastamos. Não foi, no entanto, por causa deles que o herói desta história (que designaremos por herói, ou..., ou por uma infinidade de outros sinais imponderáveis) sai agora do café para uma conversa a sério com o senhorio. Não é para falar de candeeiros, ouve... dizer na sua cabeça, mas de outro evento, que das paredes do meu quarto escorrem águas resinosas, destas que cantam e incomodam; não poderei dormir aí muito mais tempo, dar-me-ia gosto tomasse o senhor medidas; não quis falar-lhe de ninharias aquando do caso das janelas, das torneiras, note que tudo isso era da sua responsabilidade.
O senhorio ficará contrariado. É de mau gosto mencionar acidentes, pois eles referem sempre uma certa desorganização do real, que nos deve as maiores reservas. Quando... pensa no seu quarto, no tom de intimidade inalcançável num andar alugado, na expressão réêussie duma subjectividade, toma de novo um ar sonhador: o mesmo que a pouco e pouco vai tomando o seu caderno de apontamentos cuja espiral arqueia os anéis até à imitação da coluna vertebral dum gato. Do que se espreguiça.
Pensa nesse espaço onde se constituem súbitos vazios, no álbum de família onde uma fotografia pode regredir até ao negativo e mais ainda (não se pode saber até onde); nos truques do tempo, no seu sombrio ascendente. As coisas tinham vindo a mudar de expressão de tal modo, que se surpreendia a perguntar dentro da cabeça se aquele seria ainda o mesmo quarto, ou de todo um quarto: com os enormes côncavos nas paredes e, nos buracos, a fauna cintilante.
Só aqui os acidentes são verdadeiramente acidentais; o seu próprio grau de previsibilidade se torna imprevisível, para lá de certos limites: repara que um objecto que esteja imaginado para funcionar, funciona, ou não funciona. Mas quando a sua acção desafia as regras do funcionamento e do não-funcionamento, aí observamos um acidente genuíno. Aqui há dos melhores acidentes desta espécie, quer em quantidade, quer em qualidade, quer em aflição; um pássaro não voa ou morre simplesmente, mas zarpa de súbito em absurdas trajectórias, indetermináveis; as pedras não se quebram por exemplo ao cair, rodam antes na mão, a gerar figuras; e um cavalo pode ter as suas quatro pernas, é natural, mas não para baixo (no sentido do centro da Terra) —, terá quatro belas patas de cavalo-baldaquim. Mas... não considera estas coisas de carácter geral. Reflecte sobre as paredes do quarto, a consciência da cal e o escorrer da tinta, quer dizer, no cruzamento das especulações com o desejo de dormir na sua cama e na sua casa.
Aqui, o acaso encarniça-se, obtendo uma densidade de acidentes como uvas. Vinga-se das múltiplas intolerâncias da razão.
...e os outros padecem o acaso distraidamente, como quem assobia entretendo a espera da água para o chá, denegando a espera; e atravessam crises de coincidência, enquanto nós suportamos depressões dos nervos: um dia saem de casa e encontram um após outro sete amigos verdadeiros esquecidos desde a infância, vindos à cidade pela primeira vez e por razões diferentes; Jane toma um autocarro chamado Jane, conduzido por uma mulher chamada Jane, onde viajam vinte mulheres Jane, as únicas vinte Jane da cidade, que entraram em paragens distintas e perseguem motivos próprios. Tudo isto contraria a própria imaginação, habituada aos milagres legais do determinismo.
Mas quando se sentam à noite para jantar, sorriem com indulgência e consideram que afinal tudo correu bem, que chegaram a horas ao emprego, apaziguando assim pressentimentos doutras causalidades. Acreditam que a própria metamorfose segue uma ordem, opondo ao caos uma fé determinista que é resignação e omissão condescendente das atribulações que vivem entre a causa e o seu efeito. E estão pacificados, no centro deste desperdício de milagres.
Nada acontece ao nosso herói enquanto ele se desloca, a não ser dentro da sua cabeça: onde pensa embarcar e fazer-se pirata, como se isso fosse possível.
... observa que há pensamentos que vêm já dentro das palavras, como o vinho nas garrafas ou a pêra na casca, mas que doutras vezes são antes imagens-flecha, desejo de que algo aconteça.
... não tem, no entanto, alma de teórico e cedo se fatiga das coisas que não têm imediatamente a haver com o quarto e com as paredes resinosas; o seu caminho sofreu até aqui desvios incalculáveis, já que não há um caminho-média. De súbito considera a felicidade como uma questão estatística, colectiva, e desinteressa-se do assunto — onde atenta num cartaz de propaganda e se interroga sobre a origem do produto. Aviso que isto não é uma fábula, mas que tem, ainda assim, uma moral,
Até que se senta no Parque, pede um café com um gesto. Diverte-se a olhar em volta, como se procurasse alguém, tem desses pequenos prazeres solitários, inocentes; mas não está ninguém que se possa conhecer, já o sabia antes de começar a diversão. Ao canto um homem observa um par de namorados, mas... não os acha particularmente motivadores; nem particularmente simpáticos, se ao menos isso justificasse a inspecção ardente de quem parece fazer parte dum drama. A manhã seguia, o criado não vem, e... sente uma espécie de impaciência que firmemente se instala, desproporcionada, enquanto repete com negligência o refrão «é preciso saber esperar» em todos os modos menores que lhe ocorrem, e que para o efeito são apenas dois. Ou um, se não contarmos o segundo.
... não tem alternativa senão a de observar o homem que observa os namorados — o seu olhar vivo e os lábios que se movem permanentemente, como se fosse o velho-ponto-do-teatro, se isto vos ajudar a compreender melhor. As mãos fazem gestos imperceptíveis, que... anota serem esboços dos que os namorados aperfeiçoam indefinidamente, numa sequência pausada de sonâmbulos.
... sente tocarem-lhe no ombro; o homem da mesa do canto entrega-lhe um bilhete que tem (seguramente) algo escrito. Lê: senhor, o criado manda dizer que não pode vir esta manhã, poderia o senhor vir buscar o seu café à copa? ao serviço de o senhor e pede desculpa por este contratempo e a sua compreensão — o criado de o senhor.
... tem de repente saudades do seu quarto com plásticos nas janelas, da impressão de ninho que mesmo assim conseguiu instilar-lhe, pensa nas enormes perturbações inexplicáveis do mundo exterior, da sua violência, enquanto é exercida por gente concreta a quem se pode ripostar no momento. Levantou-se, perguntou onde ficava a copa, porque... não tem ainda idade para rancores e sofre a impaciência como uma enfermidade à qual é necessário resignar-se; levou tempo a encontrar a copa que mudava de lugar constantemente (e não só a copa, mas o próprio... e a gente a quem ia pedindo informações, para não falar das coisas maiores — pois nesta área deve-se estar alerta para a relatividade das deslocações e das posições).
Mas uma copa é algo que se encontra mais cedo ou mais tarde e... acaba por voltar com uma chávena de café. Gasta o bastante de minutos na contemplação apaixonada do sinal indiscutível do seu triunfo sobre o movimento e sorri distraído (um sorriso é tão mecânico) para o homem da mesa do canto. Impressiona-o a expressão ausente e choca-o sobretudo a capacidade humana, obscena, de sugerir um estado de profundo prazer no sonho e no devaneio.
Ainda que os olhos dele se dirijam para o tecto (dos candeeiros lembra-se... num flash), ... sabe que o homem está a olhar para a janela e para os namorados que aí se recortavam como meras sombras. Surpreende-o, por isso mesmo, a mesa estar vazia. Eles saíram.
Sobre a mão esquerda pousada na mesa (como um sapato), uma mosca sobe diligentemente até ao pulso.
Dalcidio Jurandir
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















