TRÊS CASAS E UM RIO / Dalcídio Jurandir
TRÊS CASAS E UM RIO / Dalcídio Jurandir
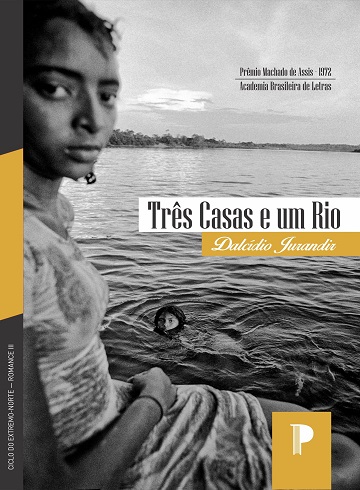
A oficina tipográfica era o prelinho francas e o novo, americano, 12 caixas de tipos, o corta-papel, a mesa de tintas e um [6] pequeno armário muito preferido pelo gato “Gutenberg” que ali cochilava, espiando os ratos na telha vã, rosada de sol. E por todo o chalé, da porta da entrada às tábuas da cozinha, distribuía-se uma quantidade de catálogos que o Major constantemente pedia da Europa e da América do Norte, a respeito de tudo, desde imagens de santos até modelos de ceroulas. Costumava amontoá-los ao pé da rede num eterno folhear e consultar, dizendo a d. Amélia, com malícia e um tom de proprietário do mundo:
— Aí está o progresso inteiro. O engenho e as artes.
Quando, às tardes, vinha d. Amélia, com o cafezinho, major Alberto, num embalo de acaso, punha abaixo o monte alto dos catálogos e exclamava, habitualmente:
— Lá se foi, desabou a civilização.
E apanhava a xícara, em meio daquela civilização no soalho, com o gato ronronando sobre páginas abertas, estampas e ilustrações.
Naquela noite, o Major imprimia rótulos para as garrafas de vinagre de Salu.
Pé no chão, uma haste dos velhos óculos segura por um barbante, manejava o braço do prelinho francês, tentando ao mesmo tempo enrolar, com o desajeito de sempre, os punhos soltos da puída camisa desabotoada e fora da calça de seu antigo uniforme da Guarda Nacional.
— Mas quem teria sido o inventor desta droga... Hei de guilhotinar no corta-papel estes fidalgotes.
Braços abertos, punhos derramados, virou-se, entre sisudo e zombeteiro, para o filho entretido no soalho com a linha de pescar:
— Nesta casa em que tudo some, Senhor da luz e das trevas, sabeis por onde anda a tesoura? Até eu mesmo, um dia, quando eu me procurar, não me acharei mais.
E noutro tom, como já certo da resposta:
— Viste a tesoura, Alfredo?
Então o menino ergueu o olhar surpreendido que logo o pai compreendeu.
— Não disse? Não lhe falava eu, seu Coimbra? Aqui, aqui, nem Santo Antônio de Lisboa.
[7] Preso aos preparativos da pesca noturna, Alfredo nem parecia escutá-lo, tão habituado àquelas buscas do pai pelo chalé. Um pouco apressadamente, sempre à volta com os punhos, quase irritado, o conselheiro de Ensino continuou a imprimir. Por pudor, falta de hábito ou lembrança, não tirava a camisa para se desembaraçar dos punhos, nem se atrevia a levá-los à lâmina da maquininha de cortar papel.
À luz do farol na parede, o prelinho fechava e abria, de rolo reluzente, com a sua pancada tão familiar a Alfredo que ia começar a pesca. Era pelas enchentes de março que ilhavam o chalé e as palhoças naquela rua da beirada, subindo a água um metro e pouco ao pé a casa do Major, de alto soalho de madeira.
Antes de enfiar a linha por uma fenda do soalho, no meio da varanda, o menino colava o olho para espiar, lá embaixo, o que havia e imaginava na enchente escura. Por ali, a princípio, quando chegavam as grandes chuvas, via os sapos saltando na lama, esta e aquela borboleta de misteriosa cor e procedência, o bico esquivo da derradeira galinha aproveitando os últimos minutos do chão há pouco poeirento onde ciscava; depois, peixes na água transparente. Agora, à noite, mais na sua imaginação que na água, passavam ilhas de vaga-lumes e saúvas, restos de ninhos de peixe tamuatá, a cabeça de um jacaré adormecido e um poraquê, o peixe elétrico, que daria o choque, como tanto desejaria o menino, para iluminar por um instante, talvez no rumo do galinheiro ou das palhoças vizinhas, a passagem da cobra sucuriju.
Seguiu-se um silêncio em que o Major renovava a tinta do rolo. O menino espiava: o rio, com efeito, chegara até o soalho, crescendo e em sua escuridão poderia, de súbito e silenciosamente, desaparecer o chalé. Também o rio, pela mesma fenda, espiava o telhado sem forro, a corda de roupa rente da janela fechada que dava para a despensa, aquele alguidar cheio d’água para apanhar as caturras [besouro do campo], a luz do candeeiro na mesa de jantar.
[8] Cheiro de diferentes águas e lodos e peixes e plantas da enchente envolvia o chalé.
Um morcego esvoaçou sobre as caixas de tipos, o armário de papel, o prelo americano, a lata de tinta e fugiu pela janela aberta ara o quintal, defronte do ingazeiro folhudo e carregado das chuvas. O olhar do menino acompanhou-o, cheio de uma vaga fascinação e temor. No soalho macio e preto de acapu, jaziam caroços, carretéis, aparas de papel, a cachorra Minu dormindo, a brancura aos pés do Major ao pé do prelinho. O gato, num banco da mesa de jantar, vez por outra, se interessava pelas caturras que, atraídas pela luz do chalé, vinham dos campos, da larga e solta enchente, para afogar-se no alguidar.
Rio e menino continuavam se espiando.
No quarto da frente, janelas sobre o rio, contíguo à saleta da entrada, d. Amélia e filha ressonavam. Um vento breve fez rumorejar o ingazeiro que embalou um e outro ninho de japiim na ponta dos galhos.
A fenda tinha calculadamente menos de um dedo de comprimento por meio polegar de largura. Alfredo enfiava a linha geralmente com um anzol novo. Por isso mesmo parecia mais perigoso aos dedos e mortal para os peixes. O menino esperava o sinal da isca de carne e pão.
Os minutos tornavam-se lentos como as aranhas que piscavam na parede para a cansada luz do candeeiro, urdindo a teia destinada, por certo, a guardar os sonhos do menino pescador. Passado um tempo, o levíssimo sinal, o débil estremecimento da linha sensível como uma veia e logo um puxão. Que delícia a linha correr, esticar, a água puxar. Gozava, enfim, a crueldade de adiar o golpe na vítima para depois: paf! como que sentia o próprio espanto e dor e agonia do peixinho fisgado. Tinha súbitas piedades, dando tempo: “Te solta, peixe, te livra, seu pateta”. Quando a linha murchava, sem mais sinal de peixe, respirava o menino la boa ação feita, para logo esperar, com divertida malvadez, primeiro que se atrevesse a furtar-lhe a nova isca.
Ao apanhá-lo, como passá-lo pela fenda, mesmo que fosse tão pequeno como um peixe matupiri? Por ali só era possível [9] peixinhos que saltavam reluzentes no soalho. Se Mariinha, dentro de seu camisão, cabelo no rosto, espreitava da porta do quarto, lá corria em socorro, chamando-os de filhinhos, a indagar por que não choravam e cada suas mamães etc.
— Tu já viste peixe chorar, bruxa de camisão? Quem te mandou pegar neles? Já pra rede, pequena acesa.
Mariinha tufava o rosto e injuriava o irmão:
— Seu papudo...
Pois queria levá-los para a rede embrulhados na ponta do camisão, coitadinhos, estavam com frio, arrepiadinhos de medo. Teriam leite pela manhã. E aquele papudo não deixava...
— Papudo!
Aí o irmão dava o grito de alarme: Mamãe! E lá do quarto vinha então sonolentamente a voz de d. Amélia chamando a menina e mandando Alfredo se deitar. Os peixinhos estremeciam no soalho e aos poucos se acomodavam sob o olhar do gato e da Minu, que os ceavam depois.
Alfredo recolheu a linha com excessiva cautela para não fisgar a mão e procurou no corredor entre a varanda e a cozinha o filtro d’água. Ao passar pela porta da cozinha sentiu na escuridão cheiro de lenha verde e de fumaça que lhe trazia a lembrança de Eutanázio, à meia-noite, a destampar panelas, quando voltava da casa de Irene.
Mas a lembrança do morto era logo substituída pela lembrança de Irene. O vulto da moça gravava-se precisamente ao pé do fogão, junto às achas de lenha verde. Na imaginação do menino, Irene vestia-se agora como uma das donzelas encantadas do lago, de que falavam os pescadores, nas madrugadas lentas de tarrafeação e linha n’água. Talvez se preparasse ela para o baile no fundo, onde Clara, a moça afogada no Araquiçaua, também dançaria, com um colar de goiabas maduras no pescoço. Iria ao extremo de sentir muito mais se Irene morresse. Eutanázio era um acabado, e ela — teria visto moça mais bonita? Que diria seu pai se lhe descobrisse tamanhos sentimentos? E a mãe? Por certo não aprovaria. É verdade que, esta, durante alguns anos, de mal com Eutanázio, não trocara uma só palavra com ele. Mas que cuidado, sem lhe [10] dar nunca um “bom dia”, quando o rapaz adoeceu! Eutanázio era irmão, sim, por parte do pai, mas não daquela mãe, de um pretume que a tornava mais amorosa, mais mãe. E Irene passava a fazer parte do chalé, embora nunca ninguém viesse dar uma notícia exata sobre o paradeiro da moça. Uns a teriam visto partir para o Oiapoque ao saber que o autor do seu filho casara em Belém com a filha de um senador federal. Outros atreviam-se a insinuar que mesmo assim vivia em Belém por conta dele ou que era mulher na cidade inteiramente... Alfredo não podia imaginar Irene assim. Quando conversavam no chalé a respeito do assunto, sem cuidarem que ele escutava tudo, fazendo-se muito entretido com os carretéis no soalho, erguia a cabeça um momentinho e interrogava o olhar da mãe. Esta não aprovava nem confirmava nada, era um olhar obscuro que o menino entendia como uma silenciosa solidariedade com aquela desaparecida. O certo é que, um dia, Irene saiu da casa de seu finado avô, com o filho no braço, meteu-se num barco e nunca mais.
Agora, na cozinha, ao pé do fogão lá estava Irene, como o menino a viu no porto quando partia. O olhar escuro, sempre agressivo, a boca malcriada, o silêncio quase escarnecedor daquela resolução de partir. Ninguém da família viera deixá-la. Estava só, com um baú de folha bem machucada, um resto de flores pintadas no meio da tampa. Tudo isso viu ele e outras pessoas no barco quando Irene partia. De pé, à boca do toldo, tinha ao colo o filho adormecido. Alfredo contemplava-a, o olhar crescido como de um homem, coração na mão, com um desejo de dar o braço àquela jovem mãe e partir com ela.
Um medo levou o menino a virar ruidosamente a tramela da porta dos fundos e olhar a noite. Como suspenso no ar, respirou com avidez. Ao pé da escada, a água insinuava-se pelas tábuas que serviam de ponte para o pequeno teso da horta, do banheiro e do poço do quintal. Alfredo quis divisar o distante clarão que muitas vezes se erguia das bandas do nascente, tido, por pessoas da vila, como a luz de Belém. Como aquele clarão o chamava!
Mas apenas Irene, com seu olhar escuro, cobria a noite.
De repente, junto do curral das vacas ao fundo do quintal, [11] rompeu um urro de garrote dentro d’água. Arremetia, assanhado, urrando sempre, contra a porteira fechada. Desfeitas na escuridão, as vacas mantinham-se silenciosas, provavelmente acuadas no pedaço de teso, perto do chiqueiro dos bezerros. O touro chifrava a porteira, com uma ferocidade impotente, urrando tanto que assustava o menino. Depois, na mesma fúria, avançou pelo aguaçal do descampado, a urrar sempre, mais parecendo boi de rio que boi de campo.
E longe morreu o último urro, o derradeiro apelo àquelas vacas presas no curral, como se o animal tivesse submergido. De novo, então, no silêncio, desabrochou, lenta, como saindo de um lago, a imagem de Irene.
Por um instante, Alfredo vexou-se de fazer ali o que queria sobre a escada, imaginando a espuma lá embaixo e a atração dos peixinhos em torno... Com aquela lembrança de Irene, que embaraço! De súbito, caiu um pé grosso de chuva, o guri decidiu-se.
Fazia de conta que era o velho Noé, da Arca, tão falado pelo pai, mijando sobre o dilúvio.
Quando voltou, o pai passava novamente tinta no prato do prelinho, tirava provas, resmungando qualquer coisa de satisfação e de familiaridade com o seu velho e querido Didot. Estava macio, afeiçoado a seu dono aquele prelo comprado em Belém, de segunda mão. Parecia feito pelas próprias mãos do impressor, nascido ali na varanda, peça por peça, criado, educado pelo dono, adivinhando desejos, sonhos, sentimentos do Major. O menino espiava. O pai curvado sobre o prelo, à luz do candeeiro, era uma das estampas vistas em velho jornal, uma pintura. E a sombra do Major crescia pela parede, grande, carinhosamente grande, cobrindo o teto onde os ratos se mexiam.
O impressor olhou o teto por acaso e deu com os ratos que o espiavam. Nesse momento, eles admiravam-lhe a calva semelhante ao pedaço do queijo visto há dias no armário da despensa, um queijo inacessível, que não durou muito, suas emanações correram o telhado.
Apanhados pelo olhar do Major, recolheram-se rapidamente e foram, sem dúvida, combinar uma incursão ousada pelas [12] imediações na despensa. O Major deu o seu pequeno brado habitual:
— Querem aprender as artes, ensino-lhes à vista. Tratantes! Alfredo aproximou-se sorrindo, o pai voltava a imprimir, suando um pouco, traços vermelhos no rosto, a mão direita no braço da Didot, a outra alisando a careca. Durante alguns minutos, pensou na rotativa que namorava no catálogo alemão. Isso era trair a Didot, a faísca da ambição ardendo-lhe um instante, uma rotativa! Por certo que ali estava, maior que a Didot, o prelo novo, vindo diretamente dos Estados Unidos da América do Norte, por ordem do dr. Bezerra, Intendente Municipal, para o lançamento do quinzenário “A Gazetinha”. Mas não lhe inspirava confiança, embora se envaidecesse um pouco de tê-lo, novo em folha no chalé, parado, com composições do jornal à espera que Rodolfo as distribuísse. Imprimia, de uma só vez, para admiração de Alfredo, uma folha de jornal, ou quatro páginas da Prática das Falências, a obra do Juiz de Direito há tempo na tipografia. “A Gazetinha”, por falta de papel, deixara de circular naquele mês. Major, na cozinha, explicava a d. Amélia, interpelava-a:
— Mostra-me os assuntos em Cachoeira para um jornal de quinze em quinze dias. Mostra-me uma notícia. Um acontecimento.
D. Amélia, a favor da circulação regular do quinzenário:
— Grandes coisas — era a sua exclamação desdenhosa —, bem que tem. Rodolfo não traz em penca? Bote a vida da vila no jornal e veja. Mas fale então mal da Intendência, seu secretário. Mostre os podres da política, ora esta!
E ria, como se toda a malícia alvejasse nos dentes perfeitos, e fosse tudo aquilo uma inesperada faceirice de sua parte para fazer o Major, de repente, abraçá-la ali mesmo, ao pé das panelas, ou cheio de irritação, deixá-la em paz.
Major Alberto estava preocupado com o desfecho daquelas últimas eleições. Aguardava a decisão do Tribunal a respeito dos diplomas de deputados eleitos para a renovação do terço da Câmara Estadual e principalmente o do intendente reeleito, o mesmo dr. Bezerra, que havia sido impugnado pela oposição. Falavam ate em cassação, palavra que o Major achava inexata, além de grosseira, ao explicar o assunto na Intendência e no chalé.
[13] Sua permanência em Cachoeira, já de 15 anos, dependia agora da validade daquele diploma. A oposição poderia vencer, anular as eleições, ganhar as novas, agora que contava com o dr. Lustosa, e apossar-se da Intendência. Afinal, refletia o Major, ajeitando o papel no prelinho, era pela autonomia municipal, mas o povo estava cada vez menos livre para escolher os seus administradores. A oposição, soprada agora em Belém pelo dr. Lustosa, crescia à proporção que este advogado comprava terras em Cachoeira, aumentava o prestígio no cartório, aproveitando-se da ruína dos pequenos fazendeiros, das viúvas e das longas ausências do dr. Bezerra.
Olhou os rótulos impressos. “Especial vinagre”. Especial. O Major fez muxoxo: o pior vinagre do mundo. Mas os rótulos estavam nítidos. Rodolfo, o tipógrafo, seu antigo aprendiz, não faria iguais.
O pior vinagre do mundo... Era o diabo uma pessoa, já naquela idade, sem independência, à mercê de uma farsa eleitoral. Não fosse o encargo de duas famílias, a das filhas de Muaná e a dos filhos em Cachoeira, iria criar porcos e plantar mamão no sítio do igarapé Puca, de sociedade com o seu compadre Modesto, embora soubesse que este furtaria pelo resto da vida.
Dr. Bezerra, ganhasse ou não a pendência, continuaria com as suas fazendas, os passeios à Europa. Os correligionários ficassem chupando o dedo. Major compreendia que era, de certo modo, uma peça indispensável àquela engrenagenzinha burocrática, na Intendência. Mas se o dr. Lustosa ganhasse, não o conservaria no cargo. Não perdoaria do Major aquela recusa ao convite de aderir à oposição. “Mas que oposição?”, era a pergunta que fazia ao pé do fogão a d. Amélia.
Teria então de vender a tipografia, fechá-la como a do coronel Bernardo, que se cobria de pó e ferrugem por simples capricho do irmão do falecido?
— Gutenberg é um malfeitor da humanidade. Por isso fechei a tipografia. Não dou nem vendo. Que o cupim roa até o prelo.
Esta era a explicação do dono, em Belém, com os seus charutos, o chapéu do Chile e a sua viagem anual à Suíça. Ainda ao [14] falar da tipografia, repetia um tanto obscuramente:
— E o tipo da responsabilidade sem pecúnia.
Naqueles dias, em que a sua estabilidade de secretario corria riscos, major Alberto tentava fazer pequeno balanço de sua vida. Perdera a melhor parte dela num fundo de gabinete que fedia a morcego e onde um velho retrato de Pedro II parecia lhe dizer:
que é feito de tua República?
Seus ofícios, obtidos graças à sua curiosidade e ao seu espírito de artesão, não lhe tinham sido tão úteis quanto idealizara.
Como fogueteiro, seus fogos e foguetes, encomendados para as festas de dezembro, nunca eram pagos. Corriam por conta de suas funções de secretário, como se deste fosse também o dever de fabricar foguetes. Tipógrafo, compunha, imprimia, dirigia jornais, por ser julgado isso rotina burocrática. Sem falar naqueles subofícios, muito seus, como o de fazer sabão, tintas, encadernar, advogar de graça, ser orador oficial, adjunto do promotor, leitor do Chernoviz para as consultas urgentes. O último, que lhe dava na sociedade o ganha-pão, o de Secretário Municipal, a chamada profissão de confiança, era tão burocrática quanto política e abrangia os demais ofícios.
Confiavam-lhe a redação e impressão das cédulas eleitorais e dos manifestos políticos, das leis e posturas, dos talões, da rubrica do material de expediente, como também dos discursos comemorativos, programas das festas de santo, matérias pagas na imprensa de Belém sobre a “administração clarividente” do dr. Bezerra, boletins, carnes de baile da Intendência, mensagens e termo de quitação de conta do intendente pelo Conselho Municipal. Confiavam-lhe a fabricação de fogos cívicos, a Tesouraria Municipal sem fundos, a interinidade de intendente, não oficial, sem gratificação alguma, porque o interino, o vogal Braulino, era quem recebia; tinha as funções honoríficas de vice-presidente do Conselho de Ensino, a fiscalização da Banda de Música, “A Gazetinha”, enfim, o secretario.
— É demais, é demais, sussurrou o Major, naquele curto balanço de 15 anos de secretário, quem sabe se lisonjeado com tantos encargos. E examinava os rótulos de vinagre. Todas as suas [15] habilidades e conhecimentos eram à conta de seu cargo de secretário. Isso chegou ao extremo de, uma tarde, o encarregado da usina e iluminação pública, então em funcionamento, bater no chalé, dizendo que o dínamo desarranjara e vinha pedir ajuda ao Major.
Major Alberto encarou com surpresa o encarregado. O homem cheio de graxa, esfregava as mãos na velha estopa, certo do socorro. O Major ficou também surpreendido pelo fato de que não podia atendê-lo, ora esta, como se tivesse faltado com o seu dever de secretário. O eletricista lhe fazia rogos, dava-lhe explicações técnicas. Um pouco impaciente e depois galhofeiro, mandando fazer café para o rapaz, confessou que nada sabia de eletricidade. O eletricista olhou, desconfiado, com a suspeita de que o Major se recusava a ajudá-lo — teria alguém para substituí-lo? — e logo assombrado, ao compreender a verdade e a ouvir:
— De eletricidade, sei apenas o que não se sabe bem o que é, meu caro. Cada um arrota os cabedais que possui. Esse, da eletricidade, não me tocou. Espere o intendente. É formado engenheiro eletricista, montou a iluminação elétrica em Manaus. Quando ele voltar da Europa, você consertará o dínamo.
Dr. Bezerra, quando voltava da Europa, insistia com o Major para que fizesse circular o jornalzinho. Major gostava de jornal, mostrando, porém, irritação com aquela insistência.
— Ora, vá fazendo logo o jornal, seu Alberto. Bem que o dr. Bezerra conhece os seus fracos.
Era a opinião de d. Amélia, atravessando a varanda, com o periquito no ombro e uma trouxa de roupa na mão.
Naquela noite, o Major olhava com fastio para as páginas compostas da “A Gazetinha”, ainda não distribuídas. Junto a estas, alinhavam-se os primeiros paquês da Prática das Falências, o segundo livro do Juiz de Direito.
Imprimiu o último rótulo, contou os impressos. Duzentos. Para que duzentos, cochichou, sorrindo, quando o Salu não deveria ter na prateleira dez garrafas de vinagre.
Ralhou com Mariinha que havia acordado e se dirigia descalça e sem atendê-lo para a mesa de jantar.
[16] Alfredo, que desenrolava a linha no soalho, olhou para a ira menina de camisão branco, à luz do candeeiro, apoiara no joelho o rostinho moreno e embebido de sono, os olhos no alguidar onde as caturras se debatiam. Tão silenciosa ficou, que o irmão não ralhou com ela nem tampouco o pai.
Alfredo foi à mesa, decidiu queimar as caturras, como era hábito seu. Levantou o vidro do candeeiro e acendeu a mecha de jornal. Para divertimento e inveja de Mariinha, as caturras torravam no alguidar. O irmão, fora do costume, consentiu que ela enrolasse uma folha de jornal logo molhada, sem pegar fogo. Mariinha impacientou-se. Apanhou outra folha e queimou-a sobre as caturras afogadas. Seus olhos cresceram diante das chamas. O calor animou-a, tinha o rosto iluminado. “Mas esta minha irmã é até bonitinha”, admitiu Alfredo mentalmente. Mas fingiu autoridade e ralhou:
— Não facilita com o fogo, desmiolada.
Major Alberto terminou a sua obra, repetindo com bonomia, a olhar os paquês do livro: Prática das Falências, esse juiz da roça quer ser desembargador, não há dúvida. Desembargador.
Também ele seria um juiz, um desembargador, se pudesse ter feito o curso.
Estas reflexões foram um tanto gratuitas. Muito melhor seria dirigir boa oficina tipográfica em Belém. De vez em quando uma viagem à Europa, para descobrir novidades, não ficaria preso aos catálogos, o mundo em pessoa seria um catálogo vivo que saberia folhear, sem pressa nem ostentações.
Já na saleta, sorriu para o pequeno retrato de Augusto Comte na estante. Tinha a cara dum velho abade, observou como se falasse dum colega. Chamou os filhos para dormir, recolheu-se ao quarto, quase feliz porque trabalhara a seu gosto, esquecera um pouco as preocupações do emprego e da decisão eleitoral. Ao lado do oratório, d. Amélia na rede mostrava o rosto escuro, a mão pendida que o Major recolheu como quem guarda uma flor.
Deitado, pensou no Didot, novamente, no sonho da tipografiazinha em Belém, fazendo rótulos para os Salus do subúrbio. Armara aquela aos poucos, domesticamente, a um canto da [17] varanda, e esquecia com isso o expediente da Secretaria, os misteres de secretário. Repetia sempre ao pé do prelo: “Isto aqui, sim, é trabalhar”. E aproveitando a passagem de d. Amélia para o quarto, apanhava-lhe o braço, detendo-a:
— Ora, Amélia, tivesse eu de escolher entre a forja e aquela papelada da secretaria, acreditas que eu hesitaria?
— Uai e você não está na papelada? Ora, seu Alberto, já não está mais em idade de ser pávulo, não me venha fantasiado de ferreiro, inda mais esta.
Major sorria, tentando explicar-lhe o seu gosto pelo trabalho manual, sem persuadi-la.
Voltou a chamar os meninos, sentiu-se fatigado e logo um cochilo misturou cismas, sentimentos, sonhos, o cuidado com os filhos e estes ficaram sós na varanda.
Alfredo fisgara um peixe, talvez sardinha, que bateu de encontro ao soalho. Teimosamente, ao querer ver o peixe passar pelo buraquinho partia-lhe a cabeça, rogando pragas. Afinal rompe-se a linha, o anzol perdido...
Enfiava agora a linha, sem anzol, com um miolo de pão amarrado na ponta e sentia-se puxado de cima para o rio que o espreitava lá de baixo. A linha comprida ia embora, fugia pelo quintal. Na imaginação de Alfredo, corria pelas marés, redemoinhos e lagos, levada por um peixe ou visagem de criança apanhada pelos sucurijus. Não seriam aquelas crianças da rua de baixo, agora anjos não do céu, mas do fundo, que disputavam com os peixes as sobras de comida e as linhas atiradas das janelas do promotor público, do Salu, da Lucíola, do chalé? Quando vivas, pediam restos de jantar, o olho comprido para o pires de farinha esquecido na ponta da mesa, a casquinha de pão jogada no soalho, o osso, com algum nervo e carne, que a Minu roía.
Puxava a linha sem a isca, acariciando-a entre os dedos, linha molhada em tão diferentes zonas de inundação e perigo, leria roçado as cordas do violino no baile de Clara e naqueles redondos mururés vermelhos em que as moças são levadas do jirau pelos botos?
De ordinário, o peixe apenas beliscava a isca, tão de leve, e [18] assim ficavam, Alfredo e o desconhecido, num colóquio, como se combinassem sonhos e aventuras ou cada qual falasse de sua vida, do que via e acontecia em seus mundos. Durante alguns minutos, que para eles tinham a duração de graves confidências, a linha transmitia essa conversação entre o menino e o peixe. Depois, silêncio, universal silêncio. A linha sossegava lá no fundo, e tudo embaixo eram trevas, solidão, talvez a boca de um peixe enorme que engolia o pequenino confidente.
De repente o grito de Mariinha saltando na direção do quarto, entre as chamas do velho camisão que pegara fogo nos papéis do alguidar. Tão rápido foi tudo — o pai arranca o camisão, pisa o resto das chamas no soalho, a mãe carregando a filha, como se levasse a menina morta — que Alfredo sumiu no chão, desatinado, com a Minu a lamber-lhe a mão que tremia.
Naquelas semanas, Alfredo abandonou a pescaria, a construção de barquinhos de papel que soltava da janela, as velhas buscas sem motivo pelas estantes, embaixo das malas e do armário da despensa à procura de um carocinho perdido ou de acaso. Também esquecera os carretéis que lhe recordavam rodas dos carros da cidade, viajando para a praia ou montanha onde deveria estar o colégio tantas e tantas vezes desejado e pedido.
Tentava acalmar-se, indagando da irmã se o óleo da nhá Porcina e os remédios do seu Ribeiro faziam efeito.
Sobretudo pensava numa essência de tajás, de mel e bênçãos Ie Nossa Senhora, banha de algum peixe misterioso, óleo de misteriosa árvore, para curar, de súbito, aquelas queimaduras que a ele doíam mais que na própria irmã.
Sob o crescente sentimento de culpa, seu temor aumentara. Ajoelhado ao pé da rede, num tom de lástima de si mesmo de contrição, repetia:
— Ninguém brinca mais com fogo, sim maninha? Ninguém brinca mais.
Calava-se alisando demoradamente a beira da rede, como se usasse a mão da irmã, e ficava atento aos curativos que a mãe [19] vinha fazer com tanta segurança e silêncio.
Tinha os olhos cheios de todas aquelas pessoas grandes que, em torno da doente, discutiam o maior ou menor grau das queimaduras. E isso até certo ponto o irritava. D. Amélia tentava ocultar à curiosidade dos vizinhos aquelas feridas tão vivas ainda. Mas era impossível. Muitos, que moravam longe, juravam ter escutado os gritos de Mariinha. Alguém viu o Alfredo sair de farol na mão, pela ponte, a caminho da vila, em busca de seu Ribeiro. O menino não se conteve e disse ali mesmo no queixo da senhora que falou:
— E uma pura mentira!
D. Amélia punha a mão na cabeça. Que menino, mas também que mulher essa minha comadre Marcionila! Alfredo não queria que a irmã fosse exposta àquela tagarelice, àquela fiscalização de todo o dia.
Parecia-lhe, na verdade, de mau agouro que, dentro de uma casa atolada no aguaçal, fosse possível um incêndio, tão possível quanto o risco de uma enchente cobrindo o chalé. Aqueles papéis se queimando no alguidar poderiam reduzir a carvão e fumo o corpinho da irmã, a cabeça branca, a pele tão alva do pai e os olhos da mãe. O detalhe dos olhos brotou-lhe do pensamento com obstinada nitidez. Nunca lhe pareceram tão indefinidos quando sua mãe olhava as queimaduras de Mariinha, eram como bolhas numa água funda.
Sozinho à janela, andando pela saleta, mergulhando na rede, com as barbas do gato roçando-lhe o pé, murmurava consigo: “Não brinco mais com fogo, não brinco” e sentia tão necessária a sua punição, que desatava em soluços. Até mesmo o major Alberto, sempre distraído e omisso em expansões de família, se impressionara com a pungente ternura do filho em torno da irmã, a tristeza em que se recolhia pelos cantos do chalé, perseguido pela visão da irmã pulando, como uma labareda, da mesa para a porta do quarto. O menino exagerava os riscos do fogo e da água, fogo e água conspiravam contra o chalé. Chuvas e chamas inundavam-no de desespero e solidão.
Voltava para o quarto:
— Mana, a culpa foi minha. Ninguém brinca mais.
[20] Ao cabo de instantes, a culpa recaía sobre as caturras, o inverno, as janelas abertas, sobre aquela viscosa hostilidade da lama, dos insetos e dos vermes em torno do chalé.
— Mas tu achas que a culpa foi só minha?
A irmã arredondava os olhos para ele. O seu pavor desaparecera como as dores. A culpa? Era uma confusa indagação dela. A culpa? Talvez fosse ele o (mico culpado. Quem primeiro queimara papel? Quem inventou, não foi Alfredo? Vinha-lhe um miúdo ressentimento por isso. Queimara-se porque ele não a livrou a tempo, malinando com ela para que se espantasse e saltasse de cima da mesa com um rabo de fogo atrás. Ou era vingança das caturras? A menina hesitava.
— Hein, Mariinha, fui eu?
Ela abanou a cabeça: foi.
— Eu? Minha? Como? Fala, Mariinha.
Ela, por capricho, abanou sucessivamente a cabeça, confirmando: Era, pronto, estava acabado. Alfredo viu-lhe os redondos olhos escuríssimos de acusação.
— Mas ninguém então vai brincar mais, Ouviu?
Desta vez, Mariinha fez com a cabeça que não.
— Ninguém brinca? Perdeu a língua?
E ela com os mesmos olhos fixos:
— Brinco, pronto.
Ficaram em silêncio. Ele alisava a rede, insinuou a mão pelo bracinho dela. Mariinha permitiu. Agradava-lhe aquela cara de culpado do irmão que a tratava com uns úmidos, tristes afagos e pesarosas palavras, servindo-a como um molequinho xerimbabo. Que mudança! Dias antes eram da parte do irmão aqueles gritos e ralhos, e arremedos e escasseando as coisas. Sentia-se agora muito acima dele, livre de toda a punição, explorando ao máximo as atenções de que era alvo. Ao mesmo tempo, vagarosamente orgulhosa por ter atravessado aquele perigo, embora receasse, por alguns minutos, que as feridas poderiam reabrir e maiores, cobrindo-lhe o corpo inteiro. Diante do irmão, seu dengo aumentara, sem palavras, feito de silenciosos amuos e contradições. Fazia-se cara pelo silêncio.
[21] Bastava que ele a contemplasse, como se quisesse que ela o absolvesse das culpas, Mariinha virava o rosto ou escondia a cabeça no lençol. Resmungava que fosse embora para logo chamá-lo, irritada, e intimar que lhe contasse dos peixes fisgados ou vistos da janela, se fizera .barquinhos, se ouvira ronco de jacaré à noite, embaixo da casa. Alfredo não via explicação alguma para aquelas mudanças da irmã, mas achava uma felicidade imensa nos minutos em que podia contar os peixes boiando na água transparente. Inventava aruanás e apaiaris grandes rabeando, vistosos, à frente dos barquinhos de miritis, perguntando por ela. Quanto a jacaré, não. Nem do velho jacaré conhecido dos dois, visitante certo quando chegavam as grandes chuvas, segundo suposição deles. Não queria meter medo na irmã. Não ouvira ronco nenhum. Mariinha ai mentia:
— Pois eu ouvi. Um ronco assim...
Erguia a cabeça na rede, tufava a boca para imitar o ronco do jacaré. E logo recordava as malinezas que o irmão lhe fazia, beliscões, pisadas, a vez em que ela pediu tanto aquele pedaço de pudim e ele: “Então fecha primeiro os olhos, que te dou na boca”. Ela fechou os olhos, para ver depois o irmão engolindo todo o pudim, mas inteiro, de uma bocada só. Quem disse que Mariinha queria parar de chorar, agatanhando o irmão?
Agora, lhe atirava tudo isso na cara, e Alfredo ouvia de olhos baixos. Saía do quarto, como expulso, mas satisfeito porque a irmã sarava.
Uma tarde, entrou sozinho no quarto, curvou-se sobre a irmã que dormia. Teria ela aumentado de tamanho? O rosto menos moreno adquiria feições de moça, e que força de vida naquele dormir tão sossegado. Perturbado, afoito, curvou-se ainda mais sobre a rede e roçou de leve os lábios na testa da irmã, tão de leve que ela não se moveu, não piscou, nem uma linha do rosto se mexeu. Teve um impulso de abrir-lhe os olhos, surpreendê-los no sono. A boca entreaberta, pequenina e tranqüila, não era a mesma que soltara de noite aqueles gritos. Estava como se nunca tivesse proferido palavras e esperasse o instante em que pela primeira vez, teria de as proferir. De leve lhe tocou neste e naquele fio de [22] cabelo. A mosca que voou e tentou pousar no braço da irmã provocou-lhe um gesto de raiva. Por pouco não acordava a menina. E ali ficou, como se desejasse fundir-se naquele sono para melhor ter a certeza de que a irmã sarava e por muitos e muitos anos, viveria. Por que a mãe não aproveitava para furar-lhe as orelhas, pôr-lhe os brincos?
Mas sua inquietação não se apagou. Sob o camisão branco, cobertas de folhas verdes, estavam as queimaduras que ele viu em carne viva, feias como se o fogo tivesse queimado o coração da menina. E voltava a ouvir os gritos da irmã e a ver, grandes, negros e infalíveis, os braços da mãe erguendo a filha salva do camisão em chamas que o pai arrancara e pisara. Deitou-se na esteira, pegando-se secretamente com Nossa Senhora para que lhe desse absolvição ou lhe tirasse qualquer responsabilidade por aquilo. Adormeceu com o sussurro das moscas no calor, enquanto as osgas, na parede, escancarando o olho ávido, tornavam-se descomunais.
Acordou a ouvir a mãe cantando na cozinha. Era uma cantiga tão natural e vagarosa, saindo pelas janelas, que fazia parte daquela calma de sol e nuvens, pontas de telhados, sono de Mariinha, água ladrilhando o campo.
Ouvindo a cantiga, major Alberto, na saleta, ao fim da sesta, pôs-se a pensar na filha cega em Muaná e voltou ao problema da Secretaria Municipal, aos termos do seu pedido de demissão caso o Tribunal decidisse a favor do grupo oposicionista. Despachassem logo, sim ou não, pois necessitava tratar de seguir para o sítio a criar galinhas e ouvir os bodes do compadre Modesto. Lá pelas tantas soltaria um fogo de vista sobre os aningais e mangues para uma festa de santo. Era uma resolução no ar, tão inconsistente que logo procurava pensar: E em que lugar da Suíça, em que hospital alemão, em que sumidade da Europa estaria a possibilidade de examinar com esperança os olhos da filha?
D. Amélia cantava a velha cantiga em que o Major se embalou com aquela súbita e inútil indagação.
Na janela, encheu os olhos na intensa claridade. Coisas, [23] bichos, rumores faiscavam. Talvez pela expectativa em que estava, a lembrança da filha cega perseguia-o. A escuridão que sentia nos olhos de Marialva estendeu-se no fundo de seu ser, fria e densa. Era a bonita daquelas três filhas do matrimônio, a sem juízo, a corrupio da casa e adjacências. Agora, em Muaná, tateava pelo quarto, como uma sombra fina e alva, desfiando o longo e liso cabelo solto.
Durante alguns minutos ficou o Major, de costas para o campo, com o mormaço que vinha das águas quentes, os olhos sobre a distante filha cega, revendo-lhe a infância. Era quando a risada da menina no quintal parecia despencar as goiabas e abrir de maduros os frutos do cacaueiro. Teve um calafrio ao pensar que a outra filha, a Mariinha, queimada de fogo, poderia ficar cega também.
Como visse maior tristeza no filho que acordara e o surpreendera na saleta, chamou-o. Fora de seus hábitos, mandou-o buscar o Chernoviz na mala e explicou-lhe que as queimaduras de Mariinha não eram graves.
— De primeiro grau, ouviu? Não foi nada.
Quis acrescentar: não brinque mais com fogo. Deixe as caturras em paz. Limitou-se a mostrar-lhe algumas gravuras sobre micróbios, nomes de doenças. Alfredo repentinamente desejou perguntar:
— E como nasceu o fogo?
Sempre reservado com o pai, permaneceu calado. O pai teria de falar na Bíblia, de seu Deus, o que o encheria de um vago terror e nada mais. Levou o Chernoviz para o quarto, notou que as telhas avermelhadas, sob o sol da tarde, tinham um ar zombeteiro como se lhe quisessem dizer: “Vamos contar que te vimos beijar a testa de Mariinha”. A ponta da cauda de um rato riscou a vermelhidão do teto.
Viu-se só naquele fim de tarde com as suas invisíveis queimaduras doendo.
Mariinha pôs-se a chorar porque o café com bolachas demorava. Não queria café e sim chá. Alfredo ficou espiando-a da [24] porta do quarto e rogou que não se mexesse muito, podia magoar as feridas.
— Mariinha cobre as queimaduras. Olha as moscas. Apanhou de cima da mala grande um vestido da mãe, foi espantando as moscas, a irmã batia os pés na rede: queria porque queria as moscas ali e reclamava chá.
Retirou os panos e as folhas das feridas, levantou-se chorando com o camisão curto. Como Alfredo tentasse segurá-la, deu um grito:
— Mamãe, ele bateu na queimadura, bateu...
Major Alberto acudiu. Alfredo recuou a um canto, o dedo na boca, a irmã acusava-o, enxugando as lágrimas na ponta do camisão.
— Eu quero chá-da-índia, eu quero...
— Alfredo, disse o Major, dá um pulo ali em Calcutá, e traga... Sabe onde é Calcutá?
Alfredo saiu correndo para Calcutá que era na letra C do Dicionário Prático Ilustrado. No quarto a menina se calava. Calcutá. O menino correu para a cozinha, foi perguntar à mãe se podia procurar chá-da-índia por todas as tabernas e portas de conhecidos.
Conseguiu-o, depois de bater em tantas casas, com as Avelares que lhe arranjaram um pouquinho de nada, só para uma xícara.
Mas ao vê-lo tão alegre, com a pitada do chá, Mariinha deu-lhe as costas:
— Pois agora não quero mais. Não quero, pronto, pronto!
E entrou a chorar alto, chamando a mãe, porque o irmão, num gesto brabo, lançara o chá ao chão, pisando-o e fugiu.
Com a fadiga, a raiva de Alfredo abrandou, mais tarde convertida em arrependimento e medo ao ouvir lá dentro um breve soluço da irmã e um silêncio, como se as queimaduras dela abrissem novamente.
Tudo fazia para que a irmã sarasse. E disso se aproveitava ela para exigir as doidices que lhe vinham na cabeça. A todo instante caprichosa, não o deixava sossegado.
Perdiam horas, ocupados em olhar uma flor que aparecia [25] boiando ao pé da escada, como se tivesse nascido ali mesmo da própria espuma d’água; a jacinta de asinhas brilhantes, um vaga-lume perdido num talo de capim que tentaram recolher numa caixa de fósforo para acender à noite, ao que se opôs Mariinha: o vaga-lume podia atear fogo na casa; a gota de chuva caminhando na folha de ingá, como se pudesse, num segundo, transformar-se em borboleta. Com um canudo de mamoeiro, sopravam bolhas da cuia cheia de espuma de sabão. Mariinha desejou, então, que delas se fizesse um colar.
Na escada da frente, pés no degrau que a enchente lambia, viam o vento fazer cócega n’água que encrespava, sorrindo. No faz de conta de Alfredo, eram ondas, vagalhões do mar nunca visto. Ali estavam muitos mares e muitas matas submersas. Transatlânticos e boiúnas circulavam nas profundidades e correntezas daquela água rasa, quieta e transparente. Quando banhava o rosto suado, sentia o sal do mar que nunca provara. Maior era o seu divertimento quando Mariinha mergulhava o rosto para mostra-lo ao sol, coberto de arco-íris. Uma e outra vez passava, lá pelo fundo ou rente do degrau, um jeju lento. E aí então voltava a água às suas proporções reais. O jeju valia, apesar de sua vulgaridade e imundície como peixe, mais do que todos os mares e bichos e navios imaginários. Ali estava um habitante típico da inundação, vejam o olhar, o rabo, como volteia amorosamente entre os mururés, como espia para cima e bóia e desce e vem, circula e some, sutilmente, sem um borbulho, no seu silêncio de peixe, com um tênue movimento da água menos que um estremecimento. Alfredo ficava, depois, mirando-se naquele espelho, sentia-se um outro naquela sombra sua movendo-se, a dissolver-se na extensão e intimidades da enchente.
Destruíam, com vagar e delícia, os velhos catálogos na saleta e longo tempo ficavam admirando a figura vermelha do corpo humano, descoberto num livro grande do pai. Mas erguiam-se batendo palmas, dando adeus, quando passavam os passarões por cima do chalé num bando escuro e lento. Divertiam-se com o vento a embalar no ingazeiro os ninhos de japiins suspensos nos galhos, fazendo “dormir os filhotes” entre a algazarra dos periquitos. [26] Certos movimentos da água no sol gordo lembravam centopéias, embuás, as sanguessugas. E ficavam horas, esperando o habitual visitante das enchentes de março, o velho jacaré. D. Amélia falava nele desde muito tempo: havia roncado noites sucessivas bem embaixo do quarto. Todos os anos, subia o Arari, vindo dos lagos ou dos igapós, pesado, ao gosto da correnteza, deliciando-se com as águas vivas, largado nas canaranas, tão dorminhoco quanto manhoso. E entrava pela vala defronte do chalé, arrastava-se pelo quintal inundado e ia roncar lá pelo meio da noite, quando d. Amélia suspendia a costura e ficava à escuta de todo ruído e movimento da enchente.
De tal forma o jacaré se tornou familiar, que havia recomendações da parte de Alfredo: não matá-lo se fosse avistado, não espantar o bicho. Talvez um dia viesse até o primeiro degrau da escada da cozinha, comer na mão de d. Amélia. Talvez Mariinha acabasse montando nele, viajando pelos campos entre os mururés. Os meninos, à noite, ficavam na janela ou à porta da cozinha, à espera do velho visitante.
— Ei, jacaré, onde estás? Tu não vieste?
E Alfredo, para impressionar a irmã, exclamava:
— Conta aquela história que tu me contaste no ano passado, jacaré. E imitava: uum, uum...
Depois, um caboclinho contou-lhes que o jacaré estava cego. Tinha sido visto numa baixa, se esquentando ao sol, mas num sono... E os dois meninos seguiam os rumos do velho cego pelas águas, até que fosse encalhar numa beirada, laçado pelos pescadores.
Mariinha então queria o couro do velho jacaré.
Alfredo prometeu trazê-lo, o couro bem macio, estendido na varanda, para os brinquedos e o sono de Mariinha, ela por isso, ficou criando mais bem ao jacaré.
Uma noite — já estavam os dois recolhidos às suas redes — subiu das águas, bem embaixo da saleta, um ronco breve, mas bastante para fazer levantar o Major, d. Amélia e os meninos. Major Alberto não sabia atirar. D. Amélia tinha na despensa uma velha espingarda sem munição. E o que fazia era bater no soalho, espantando o bicho, mesmo porque Alfredo estava certo de que [27] era o cego em busca de um sossego embaixo de casa para passar o resto da noite.
Mas o medo dominou os meninos. Alfredo se enrolou na rede. E vamos que o cego suba a escada, force a porta e entre chalé? Era uma suposição de Mariinha. Pediu à mãe que fechasse o quarto a chave. Começou a chorar.
— Mamãe, reze, mamãe, reze.
D. Amélia estava era com pena de não ter munição. O jacaré como entendendo o alvoroço lá em cima, calara-se. Major Alberto batia os pés no soalho. Alfredo insinuou.
— Quem sabe se não e uma pessoa encantada, hein?
Major Alberto abanou a cabeça e d. Amélia, pouco afeita aos encantamentos, logo ralhou com o filho: que tirasse as abusões da cabeça. Ele tinha pegado o vício de Lucíola que lhe andava sempre contando fantasias.
Sem dormir com aquele hóspede embaixo do chalé, os dois irmãos faziam perguntas. Estaria dormindo? Teria partido?
Quando os galos cantaram, ruídos de embarcações no rio cresceram, d. Amélia saiu para a cozinha e tudo clareou, Alfredo, mais que depressa, foi espiar pela escada: nem um vestígio do cego. A água embaixo estava lisa, sem jeito de jacaré ter dormido nela, e pelos campos vinha a manhã fluvial, cheirando a peixe, com o reflexo dos charcos e das lagunas na claridade úmida e riscada de asas que passavam pelo chalé.
Mal saíram juntos pela ponte até o aterro, Mariinha quis ir taberna do Salu. Era ao fim da tarde, depois da chuva, o céu baixo e de um azul molhado parecia entrar pelas casas. Os meninos gostavam de sentar e deitar nos bancos lisos-lisos do trapiche sobre o rio, vendo os caboclos descarregarem mercadorias do barco, este e aquele pescador lançar a tarrafa ou puxar a linha de anzóis com isca de pitomba para os tambaquis. Alfredo admirava os carregadores vergados ao peso de sacos e caixas pisando o trapiche. Que força, que leveza quando pisavam, a carga ao ombro ou na cabeça, rápidos, ágeis, os peitos suados, a naturalidade em todos os movimentos, até mesmo um orgulho no que faziam.
Mariinha perguntou:
[28] — Que carregam?
Alfredo resumiu-se a responder com instintivo respeito:
— Trabalham.
A irmã descobriu no balcão do Salu o vidro de aumento que servia de peso ao papel de embrulho e correu para Alfredo:
— Quero aquele vidro.
Alfredo aproveitou a ausência do Salu, que fora encher uma garrafa de querosene no quartinho dos fundos e os dois saíram levando o vidro de aumento.
Grande foi o divertimento quando viram no vidro como era disforme a cara deles, a do pai, a cachorrinha Minu, o rio. A noite, porém, Alfredo fugiu para levar de volta o objeto furtado. Entrou na venda, colocou-o sobre o papel de embrulho. Salu, no trapiche, acolhia alegremente a chegada de Luiz Piranha trazendo da pescaria um belo pirarucu.
Alfredo voltou gritando que tinha pirarucu fresco no Salu. Major apeteceu um cozido.
D. Amélia trouxe para o jantar, servido fora da hora habitual, a travessa de barro cheia de alvas postas do peixe cozido na água, sal, alfavaca e chicória. Seguiu-se um prato fundo com o pirarucu frito, de um dourado e um cheiro que fizeram major Alberto, silencioso, jantar quase solenemente. Mariinha lambia os dedos. E o caldo do cozido se repetiu três vezes com farinha d’água e bem limão, fazendo-se notar o forte cheiro de pimenta-malagueta no prato de Amélia, o que provocou do Major a velha observação:
— Isso não e mais caldo de peixe, Amélia, é caldo de pimenta, criatura.
Com efeito, d. Amélia desafiava os de casa e a vizinhança com a quantidade de pimenta-de-cheiro e malagueta que amassava na sua comida. Alfredo não se conteve, foi cheirar a boca da mãe para saber se “saía fogo”.
— Mas, mamãe, chega, está pegando fogo!
Ao fim do jantar, caiu a chuva. Os dois irmãos ficaram a um canto, sem brinquedo nem fantasias. Finalmente, na hora do sono, Alfredo não fugiu à tentação de inventar: segredou a Mariinha que o fantasma do velho Noé, de que falava o pai, vinha sentar [27] no grande urinol no quarto, à espera que a chuva estiasse para ir beber no Salu. Mas esta Mariinha não acreditou, embrulhando se no lençol, com um medo e calafrios quando escutou, por cima do telhado, atravessando a chuva, o grito das marrecas.
E que correrias da menina no chalé quando o Major, no dia seguinte, trouxe da Intendência, a “caixa do cinema”.
Mal anoiteceu, na varanda fechada e escura, começou a projeção. Alfredo viajava naqueles vidros coloridos, vestindo trajes estranhos, no Tirol ou na Índia, ora num trem, ora montando num urso na neve. Depois, uma casa alta, de telhado em bico, em meio de um bosque, com uns meninos na relva. A Alfredo pareceu um colégio, o seu colégio. As estampas sucediam-se, uma a uma, fixas, pedaços de países e de felicidades. Alfredo sofria quando o palhaço, de chapéu estendido, com a legenda escrita good night despedia-se, fechando-lhe as portas do mundo. Foi uma noite dedicada ao colégio, aquela noite depois do “cinema”. Alfredo embalava-se, embalava-se. Não resistiu e foi, pé ante pé, tocar na rede da mãe. E deu, surpreendido, com ela acordada, os olhos tão abertos na escuridão, que brilhavam.
— Que foi, meu filho?
Ele lhe queria perguntar, mas desta vez sem nenhum azedume: quando vou pro colégio, mamãe. Por intuição ou pressentimento de menino, julgou que a mãe estava precisamente pensando a mesma coisa, por isso estava acordada ainda, preocupada com aquilo que tanto desejava fazer pelo filho.
— Hein, Alfredo, por que não vais deitar?
— Nada. A senhora não ouviu um ronco?
— Ora, meu filho, grandes coisas! Foi um ronco do teu pai.
O menino voltou, escutando o riso da mãe e isso lhe doeu vivamente. Sentiu que deveria gritar lá da saleta. “Vocês não se incomodam comigo, não querem que eu estude, não me mandam para Belém, pois eu fujo, me meto num bote...”
Começou a chorar, enxugando os olhos na ponta do lençol Ao mesmo tempo, sentia a falta de Mariinha, se partisse. Mal saradas ainda estavam as queimaduras da irmã.
E foi quando sentiu passos da mãe em direção da sua rede. [30] Embrulhou-se e fez que dormia. A mãe debruçou-se, apalpou-lhe o pulso, ajeitou o lençol, murmurou um ralho um tanto carinhoso quando observou que os pés dele estavam sujos e isso foi como o próprio sono tomando conta do menino.
Passavam a girar em torno da maquininha de cortar papel, trazida da América do Norte, encomenda do dr. Bezerra. “Uma perfeita guilhotina”, afirmava o Major, que logo se lembrava da “outra de Paris que cortava a cabeça dos fidalgos”. Então, degolando papéis e papelão, Alfredo, por sentença de Mariinha, executava reis e damas das velhas cartas de baralho, modelos de figurino e o intendente Bezerra numa fotografia de jornal.
Uma tarde, os dois meninos viram encostando na escada do chalé aquela embarcação de toldo onde, com um verde emplasto no peito, gemia uma mulher. O piloto, tapuio de rosto descascado, chapéu de carnaúba de riscos brancos descido ao peito, saudava o Major. E cheirando com tal intensidade, invadindo o chalé, cupuaçus maduros enchiam a embarcação. Na proa, entre os cupuaçus, paneiros de plantas, feixes de ingá, cachos de pitombas, debatia-se um maracajá peiado. A embarcação viera, naquela tarde morna em que as águas fumegavam, como um pedaço macio e resinoso da floresta. Uns cacaus amarelinhos apontavam no fundo da canoa, cupuaçus, pardos e grandes, rachavam ao sol. Neles, naquelas polpas de ouro, Alfredo viu, por súbita lembrança, o rosto de Clara, gulosa de frutas — gostava tanto de vinho de cupuaçu.
O tapuio consultou o Major a respeito da mulher que gemia sob o toldo. Major manuseou o Chernoviz, incerto e silencioso.
Alguns cupuaçus foram levados à cozinha. D. Amélia ganhou uma vassoura de piaçava. Mariinha andou chupando bagos de cacau e Alfredo trincou uma pitomba, seu azedor dava arrepios. E o pedaço da floresta continuou a viagem, ganhando o rio, para chegar lá pela madrugada na barraca de velha Ana do Japiim, pajé das beiradas do Arari.
Logo outros dias se encheram com as idas de d. Amélia à barraca de sua comadre Porcina. Ia acudir um menino de olho pedrado, um bichinho amarelo, regado a banhas e óleos, fedendo a ervas, convulso. Nhá Porcina, mãe tapuia de caboclinhos [31] pescadores, muito prenha, via naquela senhora preta e limpa a salvação do curumim. Levara-lhe, por paga, um pau cheinho de turus que d. Amélia comeu num grosso molho de pimenta e limão, lambendo os dedos — era doida por turus, que o Major e Alfredo repeliam enojados, por ser bicho que vive nos paus podres. D. Amélia retrucava que comidos crus eram santo remédio para os fracos do peito.
Mas uma noite, sob o aguaceiro, bateram no chalé.
Major Alberto bradou contra aquele “absurdo”, “aquela ignorância”, era demais. Mandassem buscar a Amélia, vá lá, fosse a hora que fosse, já estava estabelecido que ela era a “Pronto Socorro” da rua de baixo, “a Santa Casa de Misericórdia ambulante”, mas trazer debaixo de semelhante dilúvio aquele desgraçadinho até ao chalé — era demais!
Com efeito, a nhá Porcina, com o filho agonizante enrolado numa velha e suja colcha de retalhos, vinha pedir à comadre que “salvasse o seu afilhado”. D. Amélia, com o candeeiro sobre a escada, tentando ao mesmo tempo fazer recuar para dentro os filhos curiosos, balançou a cabeça, sem uma palavra. Cobriu-se com saco de lona e entrou na montaria. Como não havia mais salvação, que o seu afilhado expirasse onde nascera.
Na tolda, enquanto o filho mais velho, de doze anos e nu, empurrava a montaria a vara, nhá Porcina sentiu a primeira dor do parto e estava imensa como a chuva que caía. Quando chegaram à barraca, d. Amélia pisando o jirau, já com o defuntinho no braço, sob a chuva, mandou de volta a montaria para buscar nhá Bernarda, a fim de pegar a tempo a criança que ia nascer.
Meia hora depois, mais que de repente, a chuva parou. Batia no chalé um caboclinho de 15 anos, trazendo recado de d. Amélia ao Major. Mandasse as velas que tinha no oratório, a alfazema guardada na mala grande e bilhete ao Salu para aviar não só café e querosene como também morim para forrar o caixãozinbo e fazer os cueiros.
Major suspendeu a composição da Prática das Falências e coçou a ilharga noutra impaciência brusca.
— Mas a conta do Salu vai enorme. O patife me explora me [32] fazendo encomendas de rótulos. Amélia é uma insensata.
Abriu o oratório, espiando os santos, assustados com tão repentina aparição, homem que lhes parecia só ter afeição por Santa Rita de Cássia e lia aqueles ateus acumulados na estante. Com as velas na mão, resmungando, acompanhado dos filhos, o Major remexeu ruidosamente o fundo da mala grande, atrás do embrulho de alfazema. Não estava. Alfredo encontrou-o na almofada de rendas.
— Tua mãe é uma insensata. Procura um lápis para a nota. Aqui é a casa do procura. Nem um lápis. Nem a caneta. Casa de ferreiro, espeto de pau. E quanto de café? E querosene? E que quantidade de morim?
Danilo, o caboclinho mensageiro, respondeu:
— Que dê para o anjo e o pagão.
— Pagão, anjo, que pagão?
— Mas a criança que nasceu, papai, explicou Alfredo.
E foi encontrada uma ponta de lápis com que o Major escreveu a ordem ao Salu.
Danilo ia desamarrar a montaria quando os dois meninos pularam no banco, logo aí sentadinhos como dois passageiros. Queriam porque queriam ver o menino morto e o recém-nascido.
Danilo disse que não.
— Então passear, propôs Mariinha.
— Pois bem, passear, mas vou primeiro no Salu. Vocês ficam me esperando.
D. Amélia passaria a noite no velório do anjo e ao pé da parturiente.
Era uma de lua, com os sapos nos tesos, as águas subiam. Mariinha queria ver as fazendas enterradas no sem fim, ver Maritambalo, tudo que Danilo, empurrando a montaria a vara, atiçava na imaginação dos meninos.
Os matos se cobriam de um fantástico negrume, uma nuvem, com a forma de um peixe, engolia a lua tão vermelha como uma isca de carne. Depois, faróis nesta e naquela embarcação que passava, o bater ligeiro de um pilão na palhoça, o jirau, alumiado por lamparinas dentro dos paneiros onde se escamavam e [33] salgavam aracus, o susto das marrecas diante das vacas que mugiam. Alfredo e Mariinha miravam-se na água agitada, cheia de luar, os peixes saltando à proa da montaria. Cavaleiros galopavam no encharcado, uma mulher seguia num boi imenso e vagaroso como se fosse para as fazendas de que falava Danilo. E longe, do casario sumido, com esta e aquela luzinha, da vila de cima, vinha o som de uma flauta ensaiando. Foi quando a montaria encalhou numa touça de mururés e flores d’água irromperam pelas bordas da embarcação. A Alfredo, aquela vegetação cabeluda, coleando na água, parecia virar bicho. Danilo, sem permitir que Alfredo o imitasse, desceu para desencalhar a montaria.
Pulou novamente na popa, fincou a vara no fundo e deu impulso, puderam sair de cima dos mururés. Danilo, vara em punho, falava que o seu gosto era estar longe, viajando ao lado de um primo no mar da contracosta, aprendendo a pilotar. Mas tinha fé ainda de que haveria de ser piloto de barco no Maguaraí. Agora, fazia de conta que estavam no mau tempo, na baia, com as velas içadas, como se fosse no barco “São João”.
— Mas em que baía a gente viaja? Na do Sol? perguntou Alfredo mostrando seus conhecimentos geográficos.
— Na baía!
Para Danilo só existia uma baía no mundo, a de Marajó e o mar da contracosta que vinha, na boca dos tripulantes, enrolado em trovoadas e lendas.
— Vamos, Alfredo, vira a vela. Prende a bijarruna, Mariinha. Ia contando os incidentes da “viagem”. Agora desviava a embarcação de uma “onda alta”, adiante era uma refrega traiçoeira do vento. Mas ali tinha piloto. E o farol? Onde o farol?
Alfredo apontava longe, era a janelita iluminada da nhá Porcina.
A montaria, esmagando os mururés, fazia bigode na proa, num chuá saboroso. “Oi tempo!” — gritava Danilo, empunhando a vara como se fosse a cana do leme.
Por fim, anunciou que o temporal havia passado. Podiam os senhores passageiros sair para o convés.
[34] Mariinha esmigalhava flores de mururé e espremia a ponta do vestido branco de florinhas amarelas, que havia molhado. Alfredo, de blusa aberta, teimava divisar o clarão de Belém. Rosto suado, luzindo de luar, olhos pequeninos, Danilo sondava o horizonte, o céu, a água, num ar de quem adivinha. A montaria avançava sobre a lua agora solta e alva como uma garça.
Quando, pela madrugada, ao avistar Cachoeira, uma lancha apitou três vezes, por norma, mas longamente, o Major saltou da rede:
— Aí vem a oposição, apitando.
“Teriam ganho?”, perguntou mentalmente. E alto, sacudindo o punho da rede de d. Amélia:
— Só banzeiro na proa.
A novos apitos, tão desnecessários quanto insolentes, no juízo do Major, seguiram-se foguetes. Da montaria que passou mais tarde, pela frente do chalé, Major ouviu ecos do que se falava na lancha, no trapiche e já na casa de d. Violante. Andou soprando, nervosamente, o pó das caixas de tipos, examinou a ratoeira na despensa, com impaciência e resmungão.
— Vá apitar e esfoguetear pro diabo, desabafou por fim, junto ao fogão onde d. Amélia fazia beijus de tapioca.
A lancha não era bonita nem tão veloz, como diziam os seus aficionados e os oposicionistas. Seu casco era pouco resistente, arriscaria afundar-se se a máquina desenvolvesse a toda força. Mas sabia apitar e fumegar, com um grosso, impressionante bigode de espuma. Em velocidade e feitio, não podia competir com a sua rival, a “Lobato”, lancha neutra na política local, que rebocava os barcos de Manuel Coutinho e da d. Leopoldina. Nunca, na baía nem no rio, foi possível comprovar qual das duas corria mais. A “Guilherme” com medo de ir pro fundo, a “Lobato”, por moderação recomendada pela proprietária, d. Leopoldina, que poupava lenha, queria conservar as peças, render o casco, tudo muito digno de sua fama de grande avarenta. Assim, a “Guilherme” [35] evitava toda e qualquer ocasião em que pudesse emparelhar, proa à proa, com a “Lobato” e tirar a teima. A oposição negava que fosse a fragilidade do casco o motivo real de a “Guilherme” não ter ainda resolvido aquela parada. Queria apenas retardar uma vitória certa e definitiva, o propalado e ameaçador momento em que revelaria toda a sua velocidade, deixando para trás e para sempre a sua rival. Mestre Silvino, da “Lobato”, que, em certas ocasiões, desobedecia as ordens da patroa, bem que desafiava. Sua lancha cortava a água fino, com a sua proa de iate, sem tanto banzeiro e tanto resfolegar.
Quanto à navegação do partido do governo, dr. Bezerra tinha o “Bicho”, com pretensões a navio gaiola, toldo e meio, o camarote do comandante lá em cima, chaminé respeitável, porão para 60 reses que conduzia das fazendas. Raro encostava no trapiche municipal, passando, cauteloso, para não encalhar nem dar acesso a curiosidade da vila, como acontecia na “Lobato” e na “Guilherme” onde invadiam convés, camarote do comandante, sala de máquina.
Pelo seu ruído, fumo e apito, a “Guilherme” agitava a população. Semanalmente trazia boatos, jogando a sua maresia e os alarmas da oposição pela beirada e fundos das casas da rua de baixo, indo espalhar-se no mercado, ao pé da máquina de Doduca, morrendo na botica do Ribeirão ou ao fim de um gamão na casa do juiz. Em tempo de eleições entrava em Cachoeira, embandeirada, repleta de políticos e foguetes, a subir e a descer o Arari, carregando eleitores, urnas, carne fresca, mesários, cachaça e molhos de tabaco, fumegando de oposição e cabala.
Duas horas depois da chegada da “Guilherme”, entrava no chalé, com um jornal na mão, contando as novidades da lancha, Rodolfo, o tipógrafo, o antigo aprendiz do Major. Marcada a lápis vermelho, lá estava a notícia tão festivamente apitada e recebida com tamanho foguetório.
O Major, fingindo não ter pressa, passando a vista antes por outras colunas do jornal, leu a nota marcada, tornou a ler, e d. Amélia lhe viu o sorriso de alívio, já de zombaria e segurança de si mesmo.
Dirigindo-se a Rodolfo, exclamou então o secretário:
[36] — Tu, Rodolfo, mais uma vez engoliste um boato. São os apitos. Aqui, a notícia não deixa duvidas. Está aqui. Foi um desembargador, ouviste?
Parou, limpou os óculos e virou-se para d. Amélia, num tom de pouco apreço:
— Um desembargador que deu parecer.
Pôs o pé descalço na ponta do banco onde estava Alfredo, coçou a perna e esclareceu, pausadamente:
— Pelo que me consta, pelo pouquíssimo que sabe este seu humilde aprendiz de Direito e legislação eleitoral, parecer não é, nem aqui nem no tempo de Roma dos Césares, não e nunca uma decisão final.
E estendeu o jornal, sacudindo-o, a apontar a notícia, diante de d. Amélia, que enxugava as mãos num pano de cozinha:
— E isso já é para que o Jovico solte os foguetes que soltou hoje de madrugada? Péssimos foguetes, aliás.
Nesse instante, retirado o pé do banco, sangue no rosto, olhar de orador de júri, demonstrava, como advogado e fogueteiro, conhecimento e triunfo.
Logo voltou a sorrir, disposto a escutar tudo que Rodolfo tinha para contar.
— E a Violante? Essa, coitada, resume-se a gastar o seu café com aqueles pândegos, não?
Rodolfo tinha o tique de contorcer-se um pouco quando falava, a relancear a cabeça, circulando o olhar pelo chão, banco e paredes para concluir encarando enfim o seu interlocutor. Disse que, na verdade, correu várias vezes o velho charão de café na casa de d. Violante, pela convicção de que aquele parecer favorável aos oposicionistas já significava vitória. Os jornais passavam de mão em mão na sala cheia, mas todos cegos, todos tontos, assegurando, com barulho e gabolice, que aquele parecer era mesmo a decisão final.
— Minto — emendou o tipógrafo —, menos d. Violante.
Na sua máquina de costura, óculos descidos, ela repetia o seu “ver e crer como São Tomé”, guardando para si a boa impressão que lhe dera o parecer.
D. Violante, viúva com dez filhos, sendo três ainda menores, vivia da costura e dos peixes que os seus rapazes lhe traziam do rio e das baixas. Bem cabocla, pouca altura, testa larga, tinha um olhar indagador e perspicaz. Morava na rua de baixo, vizinho do trapiche municipal, fundos para o rio, entre o corpo da guarda e a taberna do Salu. Trazia na família uma legenda de cabanagem, era uma Vinagre. O marido tivera várias atividades no município, vaqueiro, fiscal da Intendência, feitor, negociante de plumas de garça, curtidor e mariscador, capanga sempre ao lado dos Feios em oposição aos Bezerras. D. Violante era da oposição a seu modo, censurando no marido o gosto da cachaça, do baralho, da capangagem, a impontualidade e incorreção em alguns de seus negócios. Quantas vezes, não verberou o procedimento do marido, ouvindo-lhe as façanhas eleitorais:
— Na trapaça, não, Mundico. Não te aprovo. Tu, os Feios e os Bezerras podem ser metidos num saco só. A raça é a mesma.
Quando ele morreu, quase de surpresa, d. Violante chegou a conclusão, sem que quisesse tornar bem claro isso na cabeça, de que seu marido não lhe fazia tanta falta como era de esperar. Viu-o ali, na esteira, morto, os filhos em roda, chorando em coro, numa alta e copiosa lamentação noite adentro, o que tanto impressionou Alfredo. De olhos vermelhos, d. Violante, sempre diligente, na cozinha e na sala, sem dizer palavra, não entregara a parente ou vizinho a direção da casa. E logo, em tão pouco tempo, se habituou à viuvez como se fosse isso o seu natural. Era dessas mulheres que parecem viúvas por natureza ou gosto, a quem a gente nunca se lembra de perguntar se casou ou viveu com um homem, certo, porém, de que é um dom a sua viuvez.
Nunca saía de casa. Nem mesmo em dezembro, quando a igreja se abria para a festa da Conceição, animava-se a retirar da mala o par de sapatos que, depois de anos, tinha ainda na sola um resto de selo. Raro era alguém dizer: vi a d. Violante no banquinho da frente de casa, espairecendo ou na beirada do rio espiando as embarcações, à espera que os filhos voltassem da pesca. Tinha na mesa da máquina, na palma da mão e na ponta da língua os acontecimentos da vila, dos jornais e revistas vindos de Belém. Era [37] diferente da outra costureira, a Doduca, por várias razões. Em Doduca, havia o hábito da bisbilhotice e da anedota suja em torno da qual girava o círculo dos velhos maldizentes da vila presidido pelo juiz substituto. Doduca tinha fumaças de sociedade, ia a Belém. A filha, que andara na Escola Normal, sempre viajando, ora na “Guilherme”, ora na “Lobato”, tirava retrato saindo da Basílica de Nazaré depois da missa das dez. Doduca selecionava freguesas, costurando “só para senhoras”, com ambições de montar um atelier na capital. Trazia de Belém velhos figurinos franceses e a crônica das suas intimidades com casas ricas. A verdadeira classificação de seu ofício, vinha agora dizendo de Belém, não era a de costureira, mas “modista”. Apesar de sua tísica, benigna nos últimos tempos, a casa arruinada, do pouco rendimento da costura, Doduca sonhava com o oficialato da Marinha para o filho, enquanto ia aos poucos perdendo a ilusão e o empenho de casar a filha com um fazendeiro ou um funcionário do Banco do Brasil, em Belém. A moça só lhe dava agora despesas e desgosto que não confessava aos seus convivas da casa velha. E estes, sabedores de tudo, lhe respeitavam o silêncio.
D. Violante fazia unicamente roupa de homem, de moleque e para esta e aquela rapariga que lhe fosse pedir, pelos fundos da casa, quase em segredo e com ar envergonhado, o talhe de uma blusa. Pedido aceito debaixo de carões e duros vaticínios sobre a sorte daquelas raras freguesas quase clandestinas. D. Violante cortava blusa de vaqueiro, calça de pescador, dólmã de marítimo, sem nunca olhar molde ou figurino, sabendo talhar de memória, como dizia. Dona de seu ofício, impunha os seus padrões. Era inútil que um freguês, fosse de fazenda, feitoria de pesca ou tripulante, exigisse este e aquele feitio, com explicações miúdas. “Que tu queres? Blusa, paletó, dólmã, camisa, cueca, pijama?” O resto era por conta de sua habilidade, seu capricho, sua moda. E não tinha pressa, a roupa mofava no cesto, as encomendas se acumulavam. Recebia com desaforos os fregueses que vinham reclamar. Sendo da sociedade nunca a freqüentou senão no tempo de moça e isso raramente. Em matéria de maledicência, não admitia em casa que se contassem anedotas feias nem que se falasse mal senão dos políticos e [39] dos grandes.
— Não quero que me falem dos pequeninos nesta casa. Aqui, não.
Agora, na manhã da chegada estrepitosa da “Guilherme”, major Alberto, desfeito o susto, estava curioso de novos pormenores: como mesmo d. Violante recebeu a notícia do parecer?
Rodolfo repetia que a Vinagre não se deixava envolver pelas fumaças e apitos da “Guilherme” e o foguetório do Jovico. Ela mostrou as suas reservas. Ia ler a notícia depois, no intervalo da costura, entre duas e três da tarde. Ao pé da máquina, desdobraria o jornal, com vagar, atentamente, lendo tudo. Desde o editorial até as duas linhas de um confuso telegrama do Sião. Não se fiava tanto nos jornais. Feitos pelos homens, mentiam muito. A respeito da Cabanagem, por exemplo, quanta mentira, credo! Quanta calúnia, quanto ódio! E numa tarde recente, quando lia num telegrama os “horrores do bolchevismo”, voltou-se para o Rodolfo, os óculos na mão:
— Mas, Rodolfo, esses horrores aqui, que te parecem? Isto me faz lembrar o que diziam dos cabanos, dos meus parentes Vinagres. Lá se pode saber quando é a verdade. Aquilo na Rússia me cheira mais é a arte do povo. Abão, vamos ver.
Com voz rouca e ralhante, abria a casa para a rapaziada amiga dos filhos e que lhe tomava a bênção sob reprimendas: “Vocês todos são uns mimosos. Não fazem nada nem pela vida de vocês. Deviam correr com esse intendente, soltar esses ladrões de gado que comparados com os fazendeiros eram uns inocentes, queimar os livros de talões e atirar creolina na botica do Ribeirão por medida de higiene!”.
O próprio dr. Bezerra, quando passava pela janela do velho chalé de taipa, de esteios descobertos e reboco caindo, tirava o chapéu colonial, quase cerimonioso, para a d. Violante. Ela, na maquina de costura, erguia a cabeça, enfrentava o intendente, dando o bom dia seguido de um resmungo: “Quem não te conheça que te engula”.
Na manhã do parecer, d. Violante movimentava a máquina, com rapidez combativa, como se executasse inimigos políticos.
[40] Major Alberto não escondia a sua admiração: Violante possuía uma obstinada idéia do povo que fazia lembrar as mulheres da Revolução Francesa. E com o prazer de mostrar seus conhecimentos:
— Bem poderia estar com a sua tesoura e a boneca de alfinetes ajudando o mulherio a tornar a Bastilha, a cortar a cabeça do Rei.
E ponderava:
— Também... com o sangue que lhe corre na veia...
Rodolfo acrescentava detalhes do que acontecera na casa da viúva. Quando o Maciel, no regozijo geral, entrou na sala, d. Violante o expulsou:
— Maciel, a tua pistola de briga é essa piteira que acendes no fósforo do dr. Bezerra.
O chefe da oposição local, com piteira e guarda-sol, sobraçando jornais, fazia-se jovialmente de desentendido, piscando para os circunstantes.
— D. Violante, vou propor seu nome para a comissão executiva do nosso Partido.
— Mas, meu coitado, tu pensas que vou arruinar meu sangue comendo no teu cocho? Axi!
Rodolfo dava cor, exagero e vagar à narrativa. Major Alberto ria louvando o gênio da costureira e as artes do narrador. Apenas não sabia ela correr aquela malta que lhe invadia a casa e lhe acabava o café. Falavam que guardava numa colcha de retalhos cartas de Vinagre e Angelim, balas da Cabanagem, sem nunca dizer nem sim nem não quando lhe perguntavam se era certo.
Mas um apito no rio, dois, três, surpreenderam o chalé, a rua de baixo, os caminhantes do aterro. Não era esperada lancha àquela hora, Rodolfo partiu para o porto. Major Alberto voltou andar pela casa. D. Amélia, talvez, para disfarçar ou para não estimular a ansiedade do Major, sacudia mais demoradamente a toalha da mesa no quintal inundado. A água se arrepiava de sardinhas e matupiris que catavam o farelo do pão e dos beijus de tapioca.
Sempre pelas manhãs, Rodolfo, o tipógrafo, saía de casa para as suas voltas pelo mercado, espiar, de passagem, do meio da rua a sala já movimentada de Doduca, pára no barbeiro, [41] demorando-se numa puxadinha de palha, mal embarreada e chão batido que Raul, o jovem pintor, habitava.
Raul pintava montarias, remos, nomes das casas comerciais e cruzes para Finados. Caracterizava no São João os rapazes do boi-bumbá, cordões de bichos e as pastorinhas da Doduca no Natal. Na última festa da Conceição fora encarregado de ornamentar e embandeirar o largo da Matriz. Confessava a ambição: encarnar santos e dar a sua mão de tinta no altar da padroeira. A pedido de Rodolfo, pintara, naquela semana, o distintivo do Arari Futebol Clube, que foi exposto na banca de arroz doce do seu Cristóvão, no mercado e no meio da prateleira de espelhinhos, loção e talco do Abifadil. O próprio major Alberto, sempre em dúvida a respeito dos valores locais, mandou uma vez chamar o pintor na Intendência. Por instâncias de d. Amélia, encomendou uma cruz nova para Eutanázio. Levou Raul ao chalé onde lhe mostrou catálogos de tintas, quadros e pincéis. A propósito da Itália, citou No país da arte, de Blasco Ibanez e representou na varanda a cena em que Miguel Ângelo, na Capela Sixtina, pintando o Juízo Final, proibia a entrada do papa. Foi um dia de satisfação, mas, também, de insatisfações para Raul. Recolheu ao casebre com um suspiro: “Nós, os pobres, poderemos saber as coisas? Poderemos estudar o ofício que a gente escolher, que a natureza nos deu?”. Cachoeira estava tão longe da Itália, da arte... Abriu um velho mapa, pousou o olhar e a imaginação no Mar Mediterrâneo, na Itália... Fechou o mapa com impaciência, levantando um pouco de poeira.
Parte de sua lamentação e sonhos confidenciava ao Rodolfo e este:
— Mas viaja, rapaz, ora esta! Saco nas costas e... Estalou as mãos num gesto rápido, lançando o braço esquerdo para a frente como uma flecha:
— Vai!
Raul alegava deveres para com a mãe, o pai aleijado, era também de sua obrigação olhar para as irmãs que se tornavam moças.
Extraia as suas tintas de raízes e ervas, de frutos silvestres, fazendo milagres para encomendar de Belém pelo Abifadil uma e outra lata de um vermelho ou de um azul de sua maior precisão [42] ou preferência.
Na manhã seguinte à da chegada da “Guilherme”, Rodolfo foi conversar com Raul sobre o caso da cassação e a política fez o pintor largar o remo que pintava e exclamar, esfregando as mãos, como era de seu hábito:
— Mas tu, Rodolfo, falas do dr. Lustosa. Que ele está fazendo em Cachoeira? Passou o arame farpado em roda da vila. Tu bem sabes que se acabaram as festas do Por Enquanto, Recreio, de todas essas fazendinhas aí. Te lembra do oratório que eu pintei no Espírito Santo? Pois vi esse oratório debaixo do toldo do barco onde ia a Irene. Dr. Lustosa comprou tudo. Fez o “bem comum
Agora, só tem cerca e tabuleta: proibido cortar lenha, proibido apanhar muruci. E o progresso?
Rodolfo quis contestar, levar o amigo à parede, mas preferiu dizer que estava inclinado a desejar que os oposicionistas obtivessem a cassação. E isso por influência do dr. Lustosa. Tratando de organizar a grande propriedade nas cercanias da vila, devorando as pequenas criações de gado, dr. Lustosa preparava, com um certo vagar, em Belém, o seu golpe político sobre o dr. Bezerra. Ambos do mesmo Partido, poderiam ainda rasgar sedas na capital, embora divergências começassem a apontar em Cachoeira, numa e noutra questão das terras do patrimônio que Lustosa comia, impostos, direito sobre a beirada do rio, influência no cartório.
Lustosa utilizava a oposição em Belém e não em Cachoeira, onde era apenas o Maciel, piteira e guarda-sol, cigarro sempre aceso no lume do intendente. Servir-se já e já do Maciel, facadista de vinte mil-réis, tagarela de porta do mercado, com uma escritura muito enredada nos confins do Anajás, tenham paciência... Lustosa tinha era os olhos no major Alberto, por exemplo. Este, sim, mas Maciel? Não queria maiores atritos locais com o intendente. Dono das terras da redondeza, Lustosa, com isso, retirava do campo numerosas famílias que davam vida a Cachoeira com o movimento de ferras, embarques de gado, festas, compras no comércio local. Já se acreditava mais no dono da vila que no intendente. E Rodolfo prosseguia, contando: Lustosa chegara a visitar d. Violante e prometer-lhe uma nova máquina de costura. A viúva pôs os [43] óculos na testa, ergueu o nariz para aquele homem alto, exalando charuto e roupa engomada, agradeceu. Não podia se separar da máquina velha, a não ser que esta já não lhe quisesse servir mais e o ferreiro não soubesse dar mais jeito. As máquinas novas não eram boas como as antigas.
— Fico com a minha velha, doutor. Também não sou velha? As duas velhas se dão muito bem.
E entrecerrou os olhos, desconfiada mais que nunca, com aquele súbito e fácil oferecimento. Ela não lhe perdoava as proibições de lenha e muruci nos campos outrora livres.
— Máquina nova a custa daquelas proibições? Eras!
Explicava ao Rodolfo que a aconselhava a aceitar a máquina, sem compromissos, aproveitasse apenas o presente.
— Não, Rodolfo. Não me gabo de ser esperta. Pensa que maquina nova vai me costurar a língua quando eu tiver de falar?
Raul tinha um sorriso lento, acompanhando as palavras do Rodolfo, se soubesse desenhar, se soubesse mesmo manejar os pincéis, faria o retrato de d. Violante.
Rodolfo insistia na ação do dr. Lustosa em Belém a favor dos oposicionistas. Disputando com o dr. Bezerra a melhor confiança do senador Cipriano, chefe do Partido, acusava de fraude as eleições do município. Embora formalmente contra a oposição, ajudara por intermediários a interpor recurso no Tribunal Superior. Nas suas confidências em Palácio ou entre amigos no Café Manduca exibia franqueza: várias urnas haviam submergido no rio, outras violadas, livros sumidos, listões ausentes. Dr. Lustosa fazia-se honesto para melhor aplicar a sua desonestidade, teria sido o comentário de velho conviva do Palácio do Governo.
— Todos os cemitérios do município votaram desta vez. Não escapou um defunto, dizia Rodolfo.
D. Violante, na sua máquina, fazia justiça: todos desenterraram os seus mortos. Apostava que o seu falecido havia também votado.
— lima seção do Camará, acentuava Rodolfo, foi uma verdadeira sessão espírita. Maciel, no mercado, lambendo o arroz doce, pilheriava numa fingida indignação: todas as almas votaram.
[44] E o tipógrafo repetia o que ouvira do Major, no seu habitual comentário político ao pé do fogão, com d. Amélia mexendo o cozido e picando a couve:
— Essa eleição a bico de pena corre pelo país inteiro: isso nunca que foi uma República. E uma pantomima.
Major fazia as suas afirmações como se fosse da natureza, de ordem de Deus, do mal que há nos homens a pantomima que era a República. D. Amélia, por isso, não se surpreendia, crendo que se havia algo errado, pelo menos os pantomineiros se aproveitariam e nada podiam consertar.
O que o Major dizia, quase por pilhéria ou passiva verificação, como se aquilo não tivesse cura, adquiria em Rodolfo certa força de convicção e o desejo de pensar num remédio. Seu gosto era ver mudar um pouquinho, embora apenas de nome, o intendente municipal. E verdade que tinha um irmão, o Didico, porteiro da Intendência e estimava o major Alberto que lhe ensinara tipografia, lhe dera um ofício moderno, como dizia o Major, da arte de um alemão de bastante cabeça, inventor da imprensa.
Raul louvou a ação de d. Violante. Rodolfo aí se impacientou:
— Mas quem pintou as primeiras tabuletas? Eu? Não te entusiasmaste?
— Pintei, foi, nunca neguei. Me entusiasmei, sim. Não tive o faro da d. Violante. Mas o homem não falava em máquinas, em telégrafo, em empregos na fazenda? Pintei o nome “bem comum”, bem animado.
— Pegou?
— Não, não pegou. Mas não prometia trabalho, melhoramentos?
E Raul contou o que lhe viera dizer a velha Águeda, uma noitinha, quando voltou do campo sem um galho de secaí, com as filhas atrás, resmungando.
— Taí a bondade das tuas letras, Raul. Fez foi nos tirar os galhos secos que a gente tinha, a gente ajuntava. Tuas letras nos expulsaram do campo. Que ganhaste com isso? Melhoraram o teu chiqueiro? Era melhor tu não ter aprendido nunca o ABC, infeliz.
Cabeça no chão diante de d. Águeda, Raul, para sua maior [45] vergonha, pensava: que diria d. Violante? Era de queimar o pincel, a mão que pintou...
Rodolfo apreciou aquele desabafo. Disse-lhe que não tinha escutado qualquer palavra da parte e d. Violante a esse respeito. Mas estivesse em guarda.
— É verdade que te ausentaste de lá?
— Ocupação, Rodolfo.
Raul narrou então a última visita do dr. Lustosa ao que o fazendeiro chamava de “atelier”. Lustosa mais uma vez louvou o dom do Raul, mostrou que os artistas aprenderam a trabalhar sempre na maior pobreza, em meio do sofrimento, porque nasciam dotados de uma natureza especial para suportar tudo, o que era tão necessário às artes.
— A miséria é a chocadeira dos gênios, meu rapaz. Estive na Itália, nos museus da Europa.
Lustosa falou que necessitava de novas tabuletas, havia comprado novas terras, estendendo a propriedade. Novas tabuletas para evitar as invasões. Era necessário educar o povo. Se bem que o povo não soubesse ler... Mas uma tabuleta com letras significava sempre proibição. O valor da alfabetização estava também em saber as leis, ler as tabuletas que proíbem...
— Ora, veja, Rodolfo, para que já servem as letras.
Raul ergueu-se e apanhou por acaso a velha máscara do último carnaval que usara no baile o major Emiliano para poder dançar com Celina. Mas a família desta bispou e retirou a moça do baile.
O pintor rasgou a máscara e atirou os pedaços janela fora. Rodolfo olhou para o amigo, surpreendido. Logo passou a examinar uma cruz de sepultura ao pé a porta, já com as letras do nome. Não conhecia aquele defunto.
— De onde esse?
— Encomenda de Caracará. Mas, sim, me deixa contar: e eu disse ao dr. Lustosa que não podia mais pintar as tabuletas. “Ando ocupado. Mesmo o doutor paga pouco”.
Então foi um espanto, um quase assombro de Lustosa, continuou o pintor. O fazendeiro lamentou-se, fez-se vítima repetindo: isto é que é, onde já se viu, onde já se viu, pago pouco! Não [46] estava dando trabalho a ele, Raul? Era pouco o que havia trazido ao município? Onde estava a cooperação? Julgavam que aquela Fazenda não era um sacrifício de tantos anos de advocacia? Aquele progresso trazido por mãos dele a Cachoeira seria por pura necessidade de enriquecer ou puro “maquiavelismo”? Ambição? Cobiça? Queria compará-lo aos coronelões de Marajó? E vens me dizer que pago pouco, filho de Deus. Eu que poderia ter trazido as tabuletas de Belém a bem dizer de graça. Onde já se viu artistas discutindo preços! Tens aí um dom e não aproveitas, não sabes... Como é bem o ditado? Deus dá asas... Ah...
Espadaúdo e risonho, sempre expansivo, de tão fino tratamento e quente persuasão, o fazendeiro enchia o casebre do pintor com uma familiaridade ruidosa. Advogado de banca forte, deputado estadual, senhorio de quarteirões em Belém, fazia ver ao rapaz que, acima da honra de estar ali, visitando-o, provava ser homem liberal, generosamente simples, admirador das artes, seja na Itália ou em Cachoeira. Entre aqueles cacos cheios de tinta, um Santo Antônio maneta, cruzes, a puída bandeira do Divino, o pai aleijado entrando para ganhar charutos e logo saindo porta fora — estava ali o Lustosa sem torcer o nariz. Aninhadas no corredor, as irmãs de Raul, esfregando o pé na barriga da perna, espiavam. A um aceno do fazendeiro, as moças se aproximaram e mais retraídas ficavam, mudas, apenas sorrindo no crescente embaraço, enquanto Lustosa lhes fazia uma graça ou lhes pedia apoio aos seus argumentos contra Raul. Ao fim, perguntou se queriam alguma coisa de Belém. Encostadas na parede enegrecida pela fumaça da lamparina, a mais velha torcia a cintura do vestido, a do meio arranhava o pescoço e a terceira, piscando olhava o doutor como para outra espécie de gente, para um mundo que acreditava nunca entender.
Agora, na conversa com Rodolfo, Raul decidiu-se:
— Não pinto mais uma letra. E tenho cá uma idéia...
— Como?
Raul pôs o dedo nos lábios:
— Bico.
O tipógrafo voltava, levando para o chalé as conversações do [47] passeio matinal, escutadas com alegre atenção por d. Amélia.
D. Amélia andava apreensiva com a questão eleitoral, por causa do emprego do Major. Embora com tantos anos de serviço, não tinha direito a efetividade. A uma simples mudança do intendente, ainda que fosse da mesma política, poderia ser demitido. Mas Rodolfo tentava tirar-lhe as apreensões, acreditando que o Major ganhara o respeito e a consideração de todos os partidos. Caso o dr. Bezerra perdesse a questão, teria a oposição o atrevimento de praticar o primeiro ato impopular, exonerando o Major? Quem, com a competência, a honestidade, o desprendimento do Major para secretário?
— E o que tu pensas, Rodolfo.
E logo, como surpreendida, d. Amélia indagou:
— Mas por que tu me andas agora com tanta boa-fé, Rodolfo? Que conversão foi essa, então?
— Não é a minha conversão, d. Amélia, é o caráter do Major.
D. Amélia abanou a cabeça. Caráter? Nessa política? A uma referencia do amigo sobre d. Violante, que nunca virava casaca, sempre fiel à oposição, embora à sua maneira, d. Amélia fez um meneio, a mão no quadril, inclinando a cabeça de um lado e outro:
— Deste lado o caráter do Major... Do outro, o caráter de d. Violante... A política passa pelo meio, governo e oposição juntos, fazendo adeusinho ao caráter.
— A senhora tem é má vontade com os homens, d. Amélia.
— Nenhuma, nenhuma, criatura. Mas esses homens aí? Os Bezerras, os Feios, os Coutinhos? E esse dr. Lustosa? Ah!
Rodolfo conhecia bem aquele Ah! de pouco caso tão habitual nas exclamações de d. Amélia. Velhos amigos eram, sim, porém Rodolfo sempre a chamava de dona e a tratava de senhora. Naqueles últimos tempos, crescia nele um respeito por ela que raro sentia pelas senhoras brancas da mais alta posição na vila ou que passavam nas lanchas dos fazendeiros. Decerto se murmurou contra essa amizade e isso entre 1909 e 1912. D. Amélia viera de Muaná, passara alguns dias em Cachoeira, sumiu e voltou para fixar residência no chalé. Estava grávida de seu primeiro filho com o Major, o Alfredo. Nesse tempo, Rodolfo passou a freqüentar [47] assiduamente o chalé e foi quando o Major começou a montar pouco a pouco a tipografiazinha. Com seus 23 anos, Rodolfo desfrutava o montepio da mãe, cheio de brilhantina no cabelo e nos fatos de linho H.J. Pouco ou quase nada trabalhava. Dado a mulheres, era a bem dizer, o galã da rua de baixo. D. Amélia gostava de ouvi-lo falar da vida cachoeirense; dos numerosos amores das senhoras brancas que tratavam d. Amélia de lado, ele trazia poucas e boas. Causava-lhes despeito ou zombaria saber que a viuvez do secretário engordara nos pirões da cozinheira, sesteando nos braços da negra. D. Amélia fingia alheiamento, mas atenta a tudo que dela se falava, lisonjeava-a um pouco aquele mexerico em volta de sua pessoa, por força da posição do Major, deixando-se ficar no chalé, meio misteriosa, sem sair muito. Apenas, mostrava o seu belo rosto negro na janela ou conversava nos fundos da casa, rio portão do quintal ao lado, com pessoas pobres da rua de baixo. As mulheres de pé descalço contavam-lhe o que ouviam pela rua ou das patroas de roupa. Amélia de tal assunto pouco falava. As vizinhas ficavam estimando aquela pessoa de sua pura igualha, preta além de tudo, que vivia com um Major, um homem de representação. Mas nem parecia! Tão sem bondades era que dava gosto. Tão a mesma, fiel A sua origem e aos seus! Em vão d. Amélia lhes dizia que nada tinha, embora nunca escondesse que já fazia parte da vida do Major, dificilmente de ser arrancada daquele chalé. Ao mesmo tempo, mantinha-se um pouco à distancia das próprias pessoas pobres. Estas colaboravam para isso, para que d. Amélia se comportasse mesmo como uma senhora no chalé, por respeito ao Major, para honra das mulheres sem nome e da sua cor. D. Amélia escutava as conversas em torno de sua permanência no chalé, o boato de noivados do Major, viúvas ou moças maduras, com teres e haveres, que se propunham casar com ele e acabar de uma vez com aquela vivência da preta com o secretario. Escutar era para a mãe de Alfredo o seu melhor gosto. Era como se exclamasse, com pouco caso e divertida: grandes coisas! Ora esta! Nem dizia ao Major o que lhe botavam nos ouvidos. Rodolfo também discutia com ela, animadamente, acerca dos boisbumbás, cordões de bichos de São João de que era um dos [49] organizadores e diretores. D. Amélia, que passara um São João em Belém, em companhia do Major, não concordava com o feitio do boi-bumbá de Cachoeira. Na cidade, os bois eram menos parecidos, mas muito mais bonitos. Em Cachoeira, meu Deus, que desconformidade, que tamanhos bois.
— Boi de tamanho natural, d. Amélia.
Rodolfo não entendia bem aqueles modos dela chamando-o para a cozinha, para conversarem longamente nas manhãs em que o Major estava na Intendência. Até mesmo lhe pedia que rachasse um pau de lenha ou a ajudasse a partir com a machadinha o osso 4a carne ou pilasse, no pilão de café, os tucumãs da canhapira. “Me acompanha até a loja do Jorge, Rodolfo. Me ajuda a destrançar os punhos desta rede. Me escolhe uma cambada destas pescadas aqui de seu Luiz Piranha”. E se ele aparecia na manhã de um sábado, hora de lavar casa, d. Amélia, de saia arregaçada, vassoura, balde d’água e lata de creolina, não dispensava o rapaz: “Ah, mas Rodolfo, foi Deus que te trouxe a esta hora, tem paciência, tira os sapatinhos, meu coração, enrola a bainha da calça e me ajuda a assear esta casa”. Rodolfo, um pouco surpreendido, meio encabulado, pois era coisa que não fazia nunca nem pras irmãs em sua própria casa, via-se sem querer varrendo a água e a espuma do chão ensaboado, esfregado e enxuto depois por d. Amélia. Isso deu margem a um murmúrio demorado de indignação e má língua entre as duas irmãs de Rodolfo. Aquela intimidade perturbou o aprendiz do Major. Rodolfo viu de perto a simpatia e calor de preta tão moça ainda, a diferença de idade entre ela e o Major, o riso de uns dentes tão vivos no rosto maciamente escuro que parecia uma provocação e um abandono. Era ou não era simples cozinheira, preta de pé rapado, trazida pelo Major para o pé das panelas? E seu passado, ainda recente, a aventura nas Ilhas, a coça que o irmão mais velho lhe deu quando a viu prenha; o filho depois, morrendo afogado, de pai que até hoje não se soube quem foi?
Rodolfo, diante daquela crioula tão ao alcance de sua mão, teve o seu mau pensamento. Amélia, por preta, cozinheira e tão moça, não se recusaria a aceitar aquela verdadeira corte que ele, por tática e exercício de sedução, resolvia lhe fazer. Não tinha [50] posição social, a mãe com montepio no Tesouro do Estado, mulato, mas com lugar nos bailes de primeira? Insinuava-se então com uma habilidade e tato que a cortejada até se admirou. Por dois motivos: primeiro, mostrava-se ele muito fino quando uma “sem nome” diante dos rapazes de sociedade é sempre tida como negra de fogão. Segundo, mas por que então faria isso?
Oi que espanto foi o do aprendiz do Major, e sua situação, quando d. Amélia, com a mesma naturalidade com que o levava para a cozinha e o chamava de “meu coração”, lhe demarcou bem a linha separando aquela amizade do outro sentimento ou de outra coisa desejada por ele. Chegou mesmo a facilitar a ocasião adequada. Levando o filho a passeio por d. Prisca, uma senhora escura então assídua ao chalé, viu-se Amélia sozinha, enfiando as miçangas na volta e junto, o aprendiz, sentindo na amiga o cheiro dos jasmins que lhe trouxera e a fava e baunilha no cabelo. Ao primeiro movimento dele, Amélia, como atingida por uma ferroada, recuou o ombro e logo olhando para Rodolfo, sem demonstrar surpresa ou repulsa, mas espontânea e definitiva:
— Ah, Rodolfo, pois tu não vê que eu ia me esquecendo? Tu, quando saíres, podes me pedir a seu Alberto lá na Intendência que me traga a ratoeira que o preso lá na Guarda consertou? Mas ó minha Nossa Senhora como anda dando rato nesta casa.
Disse, tão segura de si, sinceramente necessitada de mandar aquele recado ao Major e já com as miçangas todas enfiadas na volta.
A maledicência, porém, silvou entre algumas famílias de posição em Cachoeira. D. Amélia tinha conhecimento disso e andava sempre a inquirir, a procurar a origem, quem primeiro falou, onde, precisamente, se inventou a conversa. A Rodolfo, nunca tocou no assunto — Deus a livrasse — para não despertar neste as antigas pretensões ou suspeita de que ela insinuava algo. Sabia, entretanto, com segurança, que a conversa não partira do tipógrafo. Este recuou o passo para sempre dentro da linha demarcada pela amiga que passou a estimá-lo, por isso, muito mais. O tipógrafo, daí em diante, na verdade, passava a ver naquela preta de fogão uma mulher. D. Amélia, uma verdadeira senhora, nem parecia. Impunha-se tão espontaneamente como se dissesse, com [51] naturalidade e indiferença: olhem que não sou mais cozinheira e se apenas fosse isto, que era que tinha? Isso não bastava para me fazer respeitar? Mas, também, pouco se me dá que me chamem de senhora. Grandes coisas!
Quanto ao aleive, d. Amélia guardava um rancor miúdo e quase secreto, numa expectativa constante.
— Um dia hei de saber quem foi. Hei de medir o tamanho da língua.
Major Alberto havia saído para a Intendência. Rodolfo compunha o inacabável livro do juiz, falando a d. Amélia sobre os planos os de futebol para o verão quando secasse o campo e a chegada em Belém de um Meneses, formado na Inglaterra, e que viera encontrar a família inteiramente arruinada.
— Contam que o rapaz só faltou enlouquecer. Pois só veio a saber de tudo quando chegou.
— Aqueles Meneses bem que mereceram o castigo, disse d. Amélia, que sabia das crueldades da família quando dominava Marinatambalo. Recordava-se particularmente da cena entre uma Meneses e Rodolfo num baile de posse na Intendência. Ela pudera ver tudo do sereno. No seu linho H.J., sapatos de pelica, Rodolfo, ao tocar a música, avançara para tirar aquela Meneses vinda de Belém, alta e branca, estofada de cambraia e gaze.
“Mire-se primeiro”, foi o que lhe disse o olhar da moça, num risonho desprezo. Repuxou a gola do vestido, já estendendo a mão ao cavalheiro, um rapaz da cidade, que também risonhamente fingia Mo perceber nada.
Mais tarde, o tipógrafo negava que houvesse ocorrido o incidente.
Agora, calado, enchia de tipos o componedor. D. Amélia observava certa mudança no caráter do seu amigo. Afeiçoara-se mais à tipografia, para admiração do Major. Empenhara-se no clube de futebol e andava tratando bem de Marciana, que ele tirou da casa de d. Violante, tia da moça, depois de separar-se da mulher com quem casara obrigado por lhe ter feito um filho e pertencer a moça à sociedade. D. Amélia notava-lhe certo gosto pela política, inclinando-se para a oposição, querendo levantar uma palha por [52] sua terra.
— Mas, Rodolfo, por que negaste de pé junto o que muita gente viu naquele baile?
— Que baile? Que aconteceu? Neguei o que, d. Amélia?
Ela aí já nem queria insistir, por lhe parecer que o assunto ofendia o tipógrafo.
— Pois a vergonha foi para ela, Rodolfo. Grandes coisas, ela!
No intervalo que se fez, Rodolfo logo aproveitou para falar dos ecos da notícia da “Guilherme” lá pelo cartório, mercado e balcão do Abifadil.
— Mas, Rodolfo, tu falas da oposição, e o Maciel, filho de Deus? O tipógrafo sorria. Com efeito, a oposição chefiada pelo Maciel era partidariamente apenas o Maciel... Uma água fria na fervura. Tinha uma intenção secreta: lançar um movimento oposicionista, livre de Maciel, dirigido por homem como major Alberto. Mais animado ficou ao saber que Major, republicano quando moço, teve a sua casa, uma vez, queimada pelos monarquistas e escravagistas. E quis desabafar:
— O Major bem que podia aceitar a direção de um movimento nosso aqui... E um republicano histórico.
D. Amélia, exagerando o espanto, cruzou os braços, a olhar para Rodolfo num ar de alegre censura. Já de há muito suspeitava da intenção de Rodolfo sem nunca desejar que acontecesse e sem nunca acreditar que o Major aceitaria. Ficou em silêncio, voltou a arear a panela que deixara no banco em cima de um catálogo. Os meninos riam na saleta. O periquito voou para o ombro da senhora. Rodolfo catava os tipos nos caixotins, com rapidez e ouvido na conversa. De repente, d. Amélia, de costas para ele, olhando à janela, chamou-o, abafadamente, acenando para o amigo:
— Vem cá, Rodolfo, Rodolfo... Espia só uma coisa...
Como ele não entendesse logo, pois queria completar no componedor a palavra “prescripção”, ela chamou, intimativa:
— Rodolfo!
De componedor na mão, correu ele para fixar a vista naquilo que d. Amélia apontava lá no caminho do aterro defronte da Intendência ao sol das onze horas.
[53] — Pois não é o seu desejado chefe político, o ilustre secretário dando audiência em plena porta do Palácio com a senhora professora chegadinha de Portugal? Que tal, meu louro?
Realmente, lá estava o Major, de paletó preto e calça branca, a calva ao sol, conversando com a professora, toda entonada, como capa de figurino. Rodolfo voltou ao trabalho, gracejando. D. Amélia irritou-se com o periquito que lhe quis beliscar a orelha, levou a panela para a cozinha, um pouco chocada, não sabia bem, procurando apagar de si o vago mal-estar que lhe provocou aquele acontecimento. Este, um minuto depois, agora na conclusão dela, já sem nenhuma importância. Quando voltou para a varanda foi para ouvir de Rodolfo uma notícia de Belém que tanto interessara o tipógrafo.
— Mas isso que tu leste, que tu falas, Rodolfo, dos teus colegas tipógrafos... E que pararam o trabalho?
Rodolfo apontava a notícia no jornal. Havia tocado nisso ao já pintor e este, com interesse, aludira a um movimento de carroceiros em Belém quando fora à cidade pela primeira vez. D. Amélia falou então que conhecia um encadernador em Belém, o velho Lício, casado atrás da porta com Mãe Ciana, uma tia. Homem bruto, mas competente, gordo, carregado de livros. Uma vez, com feição sombria, e batendo o indicador amarelo na ponta da mesa, falara na palavra “greve”. Sabedor de que o Major era fogueteiro, andou pedindo explicações sobre a arte. Depois da conversa com Lício, o Major falou para Amélia que o sujeito tinha as suas leituras, e sussurrou, zombeteiro e com ar conivente: Perguntou-me se eu queria fabricar umas bombas. Ora, já se viu. Umas bombas. Quando ela e Major foram ao Teatro da Paz — era uma companhia portuguesa —, Major, nos intervalos, abanando-se com o leque da companheira, repetia: umas bombas. E de volta do teatro, ao fecharem o portão da casa das primas de Amélia, onde o casal w hospedava quando ia a Belém, Major colhendo um ramo e jasmins do jasmineiro, murmurou ainda: Umas bombas. Muitas noites no chalé, d. Amélia escutava o Major repetir a conversa. Umas bombas.
— Mais, não sei, disse ela desatrapalhando o punho da rede [54] de Alfredo: como esse demoninho torceu este punho, Ave-Maria! Ao voltar da Intendência, major Alberto trazia a certeza de que o Tribunal confirmaria o mandato do dr. Bezerra.
— As Limas que votaram pesam no Tribunal. As urnas não são urnas, são igaçabas, urnas funerárias. Ah, esta República... Tinha o emprego garantido e cada vez mais insegura a fé na
República. “Isso não é sério, isso não é sério”, vinha dizendo mentalmente. E alto: “Pra mim tanto faz como tanto fez”. E junto de d. Amélia, como se esta estivesse a par de tudo que ele pensava:
— Mas se os outros ganhassem? Se houvesse nova eleição? As coisas se consertariam? Qual!
— A sua valência foi não perder a Secretaria, não, seu Alberto?
Ela dizia sério, mas o Major compreendeu como troça. Que pensava aquela mulher, que sentia, que juízo fazia e afinal por que e quando começou ela a ter opinião em tais assuntos?
E de súbito, para espanto de Rodolfo e curiosidade de d. Amélia, manifestou saudades da Monarquia.
Na manhã seguinte, como se falasse ainda na Monarquia, d. Amélia arriscou:
— Mas a Monarquia com aquela escravidão, seu Alberto?
Andando de um lado para outro, punhos soltos, pés no chão, major Alberto tentava explicar a Monarquia liberal da Inglaterra. Interrompia-se. D. Amélia recordava-lhe então que ele mesmo lhe falara, certa vez, há tempos — tinha ainda Alfredo nos cueiros — de uma guerra dos ingleses contra um povo na Ásia e na África, não sabia onde.
— Não sei bem direito, mas você me disse. Mostrou jornais, nomes. Os ingleses não eram os culpados?
Tocando, de leve, a testa com a ponta do lápis, major Alberto parecia meditar. Afinal, era difícil estar discutindo os acontecimentos do mundo com pessoa da natureza e condição da Amélia ou julgando este e aquele povo, este e aquele governo. Entretanto, num sussurro sem razão, troçou, como se não assumisse inteira responsabilidade do que ia dizer:
— E. É. Eles são bonzinhos, mas na casa deles. Na dos outros, vá ver. Por exemplo, aqui mesmo, nesta República.
[55] E logo surgiam as dívidas externas do país. Enormes.
— Ontem, eram os portugueses. Éramos uma colônia. E hoje? Mudamos de rótulo, somos uma República. O capataz de fora tomando conta. O Jeca planta café... E a senhora, d. Amélia, vai por aí, de jirau em jirau, forrando a asa dos anjos que morrem e a esteira dos que nascem...
E, rapidamente, mudando de assunto:
— Uma coisa não faço neste mingau da política, é votar no Rui Barbosa. Muita sabedoria, psiu... mas um homem dos mais dispendiosos da nação, psiu...
Aparentemente desatenta, sem surpresas, ouvindo tranqüila aquelas informações do mundo, Amélia considerava que o Major tinha era paixão pela política, de todas as profissões a que mais queria. No entanto, fracassara. Por timidez, honestidade, orgulho? Não sabia.
— Seu Alberto, você tinha coragem de aceitar novamente ser candidato a intendente de Muaná?
Major coçava os cotovelos, sorrindo nas pupilas. Virava-se para todo lado, como a buscar ouvintes e afirmava, andando pela saleta, imitando pessoa manca, velho hábito seu:
— Em política, só quem tem... psiu. Olhe.
Aproximava-se de d. Amélia que tinha os olhos na costura, suspendia-lhe o queixo para que prestasse bem atenção e fazia o gesto que significava dinheiro.
— Isto somente... o resto é potoca.
De repente, uma dúvida.
D. Amélia até levantava os olhos da costura ou tirava do cabelo o charuto com que ariava os dentes. Major Alberto não deixava de acompanhar pelos telegramas aquelas coisas brabas e fabulosas que se passavam na Rússia. Mas entre aquelas coisas e a política do Pará como conceber a nítida diferença, ter uma noção? O que sabia das notícias russas era tão pouco e coberto de tanto horror. Na breve referência que fazia a isso, aventurava:
— Mas algo deve dar razão aos russos para fazer aquilo... Era um imperador sangüinário que estava lá... Muitos séculos... Mas a violência agora... Não posso aceitar das revoluções essa [56] fatalidade, a de serem violentas. E depois, até as princesas mataram!
Então, como se ouvisse o Major falar em crueldade e excessos, d. Amélia também aventurava:
— Mas, seu Alberto, excesso por excesso, hum! Crueldade, sempre tem no mundo e melhor será que seja feita pela maior quantidade que é o povo, ora esta. Por isso não acho nada demais o que fizeram os cabanos aqui. Foi ainda pouco.
Mas mataram meu avo no engenho. Minha família passou escondida em Belém sem sair durante o tempo do Angelim. Não. Podiam ter razão, mas a razão nunca é bárbara...
E os meus parentes e os caboclos mortos pelos correligionários de seu avô português? Que me diz? Ora, seu Alberto...
Então, Major recordava que, da parte da mãe, havia também parentes seus envolvidos com os cabanos.
— Tenho sangue caboclo, tu bem sabes.
D. Amélia movimentava a máquina. Major ficava pensativo. aí — E verdade, disse, que ainda não se pode entender o que vem
pelo futuro. Que os tempos mudam, isso eu sei. Mas quando chegará essa mudança a Cachoeira?
E noutro tom:
— Ainda tem daqueles beijucicas na despensa ou os meninos paparam tudo?
Alfredo, no soalho, entretinha-se ouvindo aquelas conversas de serão, longas, em que o pai confessava: se não tinha jeito, por vezes, de andar investindo contra o governo, também não possuía natureza para rastejar, de joelhos...
Uma tarde, Alfredo ouviu-o falar da sessão do Conselho Municipal de Cachoeira que reunia uma vez ao ano para ouvir o relatório do intendente e examinar os balancetes de receita e despesa. D. Amélia assistia à representação, feita pelo Major no chalé, da sessão dos legisladores municipais. Vinham estes de diferentes localidades do município, um do baixo Arari, outro do alto, aqueles dos centros, o resto era da vila. Entravam na Intendência, entre nove e dez da manhã, enfarpelados, peito duro de goma. Era o coronel Braulino, barbas de Pedro II, de casimira azul marinho, botões de madrepérola nos punhos; na ausência do dr. Bezerra, [57] por ser o vice-presidente do Conselho, assumia o governo da Municipalidade. Não fazia um gesto, não tocava um papel sem antes olhar ou ouvir o Major. Tinha as suas mil e tantas reses e uma interminável questão de terras no foro da capital. Quando ia a Belém hospedava-se no palacete do compadre, o dr. Coelho, um ex-governador do Estado. O advogado da sua questão, o Gurjel, tido como um dos sabiás do júri, também era seu compadre. Não se sabia ao certo se o Gurjel comia aos poucos o gado do seu constituinte, fazendo render a questão, ou se esta era mesmo difícil e dava o advogado, por isso, prova de dedicação ao seu compadre. Sabia-se, isto sim, que o coronel Braulino tinha orgulho da questão e do advogado, a quem levava barcadas de bois como honorários e lingüiças de presente. Major Alberto repetia sempre do coronel Braulino a expressão com que abençoava os afilhados: Delabençoe... Delabençoe... E o secretário acrescentava: Estranha figura gramatical essa que come a palavra Deus. Uma elipse digna de excomunhão.
Seguindo o coronel, entrava para a sessão um negociante de pluma de garça, peixe e couros, insensível ao calor de sua casimira escura, o Piassoca. Considerava o Conselho como uma trapalhada na sua vida por obrigá-lo a enfarpelar-se, mas fazia sempre questão de reeleger-se. Logo vinha o Garça Molhada, vogal perpétuo, com as suas botinas perpétuas, a tosse ruidosa, antigo caçador de onça. Deixava, excepcionalmente, naquela manhã, de matar o seu bicho no Salu e trazia, por pura formalidade, uma coleção antiga de Diários Oficiais que sempre esquecia na Intendência. O Milico, marchante da vila, dava a sua presença, metia as patas no salão como o jumento perfeito, dizia o Major. Atrás do colega, com um “bom dia”, tão vagaroso que parecia saborear, chegava o José Uchoa, empreiteiro de obras, inclusive da Matriz, que eram eternas. Diretor de irmandades, tesoureiro da festa de Nossa Senhora da Conceição ia a Belém, em dezembro, buscar o padre e jantava com o arcebispo. O retardatário era o oposicionista, o Maciel, do antigo Partido Conservador. Baixinho, bengala e piteira, a sobraçar leis, trazia na pimponice a ameaça de objeçôes ou o pedido de exame dos balancetes e documentos. Didico, o [58] porteiro, também de paletó, logo que via o intendente assumir a presidência, tocava, por hábito, a campainha, como nas audiências do juiz. Ia até a porta da rua, campainha na mão, anunciando a sessão ao campo, às vacas que pastavam, e algum moleque que rodava um barril d’água pelo aterro.
Os vogais consertavam a garganta — Garça Molhada tossia ruidosamente — circulando o olhar, com solenidade, pelos retratos de intendentes e governadores nas paredes. Detinham-se mais um pouco na República, coroada de louros, que exibia, sob o véu transparente, os grandes seios cívicos.
Vestido como um explorador da África, perneiras rangendo e chapéu colonial, o intendente, o dr. Bezerra, apresentava o relatório. À medida que queria parecer solene, acentuava-se em todo o rosto vermelho uma malícia teimosa.
— Devo ler por inteiro? Ou... Estou ao vosso inteiro dispor.
“Não”, “não”, acudiam os vogais, alegando que o major, que redigira o documento, o iria imprimir e distribuir depois. Seguia-se a apresentação dos balancetes espalhados pelo Major, na mesa forrada de verde, entre canetas novas e tinteiros cheios que jaziam inúteis. Só o Maciel, piteira entre os dedos, espetava o nariz num e noutro algarismo, fazendo-se interessado, na iminência de uma dúvida ou de uma reprovação. Os vogais, que sempre abanavam a cabeça, aprovando, entreolhavam-se, voltavam-se para o dr. Bezerra, como se lhe pedissem desculpa por tão breve impertinência. Lavrando a ata por antecipação, o major Alberto, um tanto vexado apesar de tão habituado àquilo, dizia de si para si: que pantomima, seu Coimbra.
Maciel tirava o nariz dos algarismos, virava uma ou outra folha do relatório, puxava o lenço, enxugando o suor, era o cansaço da oposição. E fez o pigarro do consentimento, acendendo a piteira no fósforo que lhe estendia o intendente. E este, por uma consideração toda especial ao seu adversário político, enxugou com a larga folha branca do mata-borrão, a tão combativa e quase ilegível letra do Maciel. Didico, o porteiro, trazia o café. Um louvor unânime escapou dos vogais quando foi servido o prato de pastéis da mãe da professora. A possível vinda de um padre [59] efetivo para a paróquia, a chegada de uma cartomante, animaram a sessão. E enquanto conversavam, saboreando o moca, como dizia o Major, este acabava de encerrar a ata e a moção de congratulações ao intendente que todos assinavam. Maciel voltava a assinar não sem antes deixar bem claro que o fazia por simples consideração e jamais por princípio.
— E. E, meu caro Maciel, em matéria de princípios devemos ser sempre intransigentes, bem intransigentes, ponderou o dr. Bezerra, dando a sua palmadinha oficial no ombro do adversário político e citou uma frase de um parlamentar inglês na Câmara dos Comuns, que escutara, pessoalmente, na sua última viagem à Inglaterra. Eram dez e quinze da manhã. Didico tocou a campainha, anunciando o encerramento, naquele ano, dos trabalhos legislativos municipais.
Retiravam-se da sala, inchados ainda de solenidade, convictos de que o intendente lhes dera satisfação de seus atos e lisonjeados com o tratamento, principalmente com aquela citação que tanto os aproximava do Parlamento britânico. Dr. Bezerra poderia enganá-los, sim, mas tinha que tratá-los bem, compreender que o Conselho existia. Para isso vinham eles, aparamentados e cerimoniosos. Bezerra, afinal, era homem viajado, de ilustração, escutara, em pessoa, o grande Rui e foi, por duas vezes, recebido no Catete pelo Presidente da República. Quanto a Maciel, o oposicionista, escreveria cartas ferozes contra, murmuraria na casa de d. Violante ou com os parentes, que metera medo ao Bezerra, criara pânico no Conselho, ao requerer exame nos balancetes, exigir recibos, confrontar contas... E que, por fim, o intendente, chamando-o a parte, lhe rogou não fizesse tantos embargos, pois estava ali também para servir à oposição. Nunca o Maciel desejasse o seu lugar, que era de sacrifício e vexames, e o maior desejo dele, Bezerra, era safar-se dos miúdos compromissos e pífias conveniências de um partido no governo e rugir na oposição, com um companheiro da fibra do Maciel. Maciel, então, media a humildade de Bezerra, e, vá lá, punha o jamegão, mas sem antes retificar termos no relatório, criticar, advertir. Ah, quando quisesse estourar, lavar a roupa suja nos jornais de Belém! Tinha ou não tinha [60] o Bezerra na mão?
Ao saírem, o intendente oferecia-lhes charutos, perguntando-lhes pelos negócios, os barrigudinhos da família e a pedir a Maciel que prestasse atenção, desse a sua opinião sobre a banda de música, ao jornal, coisas tão essenciais a uma política de conciliação e entendimento.
Depois, no gabinete, dr. Bezerra alisava o curto bigode escuro, a calva viajada, falando com bonomia:
— Estamos aprovados, Major.
E logo generoso, como que temendo qualquer restrição do Major, e como se fosse tratar de um assunto que há tempo o preocupava.
— Mas, Major, estou às suas ordens. Afinal, o sr. nunca me pediu nada. Foi assim no tempo do primo Bernardo. Agora no meu.
Reconhecia que tudo ali naquela Municipalidade dependia do secretário e que secretário! Ele, Bezerra, viajava e nenhum receio, lá pela Europa, em instante algum, lhe enrugava a testa ou lhe tirava o gosto de ir ao can-can, à ópera e ao restaurante chinês. Major Alberto aqui estava, por ele puxando o Braulino pelas barbas monárquicas, secretariando.
— Devo-lhe tudo nesta administração, Major. Devo-lhe tudo.
E entre este e outro assunto, enfiava a pergunta:
— Afinal, Major, que espera o sr. do futuro? Com que conta? E seus filhos? A isso se chama um homem previdente, bem, Major? Vai fazer comigo o que fez com o primo Bernardo que lhe ofereceu tantas oportunidades nunca aproveitadas? Creio que há um limite para o escrúpulo, passou desse limite chega-se à soberba, que é um pecado, bem sabe. Por soberbia, muita gente está rio inferno, Major. Mas comigo, não, destronarei essa soberbia. Eu, meu grande distraído, o obrigarei a aceitar, a aproveitar. E aio me fará favor. Eu, sim, que lhe serei grato.
Major esperava as oportunidades. “Bem, dizia a si mesmo, vamos agora ver. Faça o oferecimento”. Mas o dr. Bezerra, sempre loquaz, falava da banda de música, do jornal, dos reprodutores suíços, do hospital onde curou a hemorróida, o teatro onde [61] ouviu Caruso. Como gostaria de viajar com o Major!
— O sr. seria um ótimo companheiro de viagem, Major. E sei que aproveitaria muito mais que eu...
Confessava que as suas rendas não cobriam as despesas da família. Eram hipotecas, letras protestadas, a família exigindo sempre, passeando sempre, as filhas no Rio, as filhas na Itália, as filhas em Portugal.
— Tudo isto me tira os últimos pelos da cabeça. Não sou um fazendeiro de São Paulo. Sou um boiadeiro marajoara. Mas qual! A família não se conforma.
Tirava o chapéu, sentava, suspirando:
— Não tenho a sorte do Manuel Coutinho Filho. Aquele, sim... Desfiava a queixa, que não teria coragem de confessar aos amigos em Belém nem aos parentes no Rio e sim àquele secretariozinho municipal, cara de pároco, os olhos azuis lá no fundo, O Major escutava a confidência cheio de compreensão e um interesse que até perturbava o intendente.
— Minhas filhas querem manter uma vida de corte inglesa no Pará. Minha mulher alega que precisamos ter uma vida social à altura de minha posição como deputado estadual, como intendente, como quem instalou a eletricidade em Manaus... como irmão do deputado federal, como pai de moças educadas na Inglaterra, com outro irmão metido em comissões no Itamarati. Qualquer posição que um parente ocupe na Capital Federal...
— Lá na Corte... atalhou o Major, sorrindo.
— ... o resultado: gasta-se. Aí, meu Major, é que a porca torce o rabo. Aí é que estão os duros ossos de quem tem posição...
Puxou novo suspiro, abanando-se com o balancete aprovado:
— Ah, Cristo, como ando precisado de me meter num fundo de fazenda, aí pelo Goiapi, e ficar, cá entre nós, com uma caboclinha passando o cabelo solto por esta pobre calva nua...
Major Alberto riu alto.
— Não, não ria, Major. Ando cansado. Cansado da educação de minhas filhas, dos luxos de minha mulher, das honrarias que a família traz ao Pará... Quisera mesmo que o Tribunal desse ganho de causa à oposição e disso se aproveitasse o nosso muito leal [62] correligionário Lustosa para assumir as rédeas disto aqui. Queria que as artes do advogado e do negocista obrassem o milagre que não fiz.
E com voz baixa, sempre sério, quase suplicante:
— Quero um colo farto, Major. Um colo mesmo cheirando a bezerro, a peixe, e tijuco de beira de rio. Mas farto, mas macio, amigo meu!
Guardando os papéis aprovados, respondia-lhe o Major, mentalmente: conheço-te as manhas, ó desventurada vítima da família. Colos tens à farta nas tuas senzalas e me vens com um ar pedinte, meu sultão.
E já no chalé, perante d. Amélia, Rodolfo e o filho, recordava a festa da inauguração dos estudos hidrográficos de Marajó. Foi em Santana, antigo engenho de açúcar dos frades, na foz do Arari, refúgio dos “brancos” quando os cabanos ocuparam Cachoeira e agora propriedade dos Bezerras. Embandeiradas, numa breve confraternização municipal, a “Guilherme” e a “Lobato” foram, juntas, lado a lado ao meio da baía receber e comboiar o “Soure”, gaiola da Amazon River, que trazia o governador. Acompanhavam Sua Exa. o comandante da Região Militar, o arcebispo, o comandante do Arsenal de Marinha, o capitão dos Portos e a sociedade de Belém que dançava a bordo no baile fluvial promovido, com irrepreensível cuidado de seleção e apuro, pela senhora do dr. Bezerra, a d. Benedita, sempre louvada nos jornais por sua linha, suas iniciativas mundanas e piedosas. O marco inicial das obras pelas quais, na Câmara Federal, se batera tanto e por longos anos o irmão do intendente, foi assentado na ilha das Pombas, defronte de Santana, tida como fantasma, viajando pela baía, em certas noites altas como cobra boiúna. Ao lado da briosa da Brigada Militar não fazia má figura a banda municipal de Cachoeira e era o intendente, por isso, muito cumprimentado. Mas quando, na aproximação da cerimônia e no ardor da matinal dançante, começaram a estourar mais foguetes, mais champanhe e dobrados marciais, já andava o intendente pelo pedregulho do velho engenho, entre os coqueiros, às voltas com a d. Benedita para que não fosse ela arrancar da palhoça no mato e atirar na maré a [63] caboclinha, descoberta como a favorita do doutor naquelas redondezas. D. Benedita pôs de lado a direção do baile, a atenção à Igreja na pessoa do arcebispo, ao Exército, à Marinha e ao serviço do buffet, “copioso e a capricho”, como disseram depois os jornais de Belém. Empunhou a vassoura de açaí e avançou mato adentro pelo atalho da toca da Botão, que era o apelido da cabocla. Arriscou-se a atravessar o igarapé por uma estiva e de salto alto, suspendendo o vestido, logo bracejando em meio dos seus colares e pulseiras nos punhos do marido e a chamar cada nome contra aquela... Atrás dos miritizeiros e dos restos de paredão do engenho, as empregadas e crias da família espalmavam a mão na boca e cochichavam “mas ah! mas ah!”; pasmas com o que saía da boca da patroa. Os foguetes de Cachoeira encomendados ao Major, porfiavam no ar com os de Belém, espantando as “ciganas” no aningal. A banda de Cachoeira rebentava o peito para emparelhar-se com a briosa da Brigada. E foi preciso a intervenção do secretário, isolando o incidente da festa, varando atalhos e desapartando o casal, para que voltasse o intendente à cerimônia. Muito vermelho, uni risco de unha no pescoço, a roupa amarrotada e salpicada de lama, pôde ler ofegante, o discurso escrito pelo Major saudando o governador e trocou com Sua Exa. o brinde de honra ~o Presidente da República. D. Benedita, no braço do orador, enxugava a fúria no pó de arroz e sorria, voltada para o arcebispo que escutara o intendente, aprovando com a cabeça as passagens cristais. A noite, num intervalo do baile que prosseguiu no “Soure” e na varanda da casa grande, foi exibido o fogo do artifício preparado pelo secretario. De braço com d. Benedita, o intendente recebia, pelo sucesso dos fogos, do discurso e da festa em geral, novos cumprimentos. Cumprindo o encargo pirotécnico e enxugando o suor da calva, o secretário desceu à beirada do rio num ponto afastado das embarcações atracadas no porto, para verificar se o outro encargo, menos brilhante, havia sido também executado. Mandara despachar o “móvel do incidente” para um sítio a duas horas a remo de Santana. E viu com efeito, ao clarão do baile fluvial e à luz das derradeiras lágrimas de artifício, num casquinho subindo contra a vazante agitada, a caboclinha que ia so e remava, O remo, ao instante que saia d’água, reluzia. Noites seguintes, sentia ainda o Major o [64] reflexo daquele remo queimando-lhe o rosto.
Se em grande parte era verdade o que dizia a respeito da família e da sua situação econômica, o dr. Bezerra visava obter do Major a inteira segurança de que o serviria com aquela municipal honestidade, boa-fé e modéstia de sempre, sem contrariedades nem despesas. No auge das confidências, exagerava as decepções e os maus negócios, não só para desculpar-se de suas longas ausências de Cachoeira, de que tirava partido para provar que confiava cegamente no Major como para demonstrar ainda que vale melhor a pena ser um homem de bem, sem os encargos da riqueza e da política. A do Major, por exemplo.
Mas quantas vezes, o Major, se embalando na rede, não concluía: “Eu me julgo melhor que esse homem. Trapaceia comigo”. Também uma reflexão, pérfida, se insinuava: “Mal por mal, não era melhor ser dr. Bezerra”?
Embora em certas ocasiões o considerasse cínico, não ocultava a sua simpatia por aquele homem que falava inglês, doutor em eletricidade, manifestava algum desejo de administrar, o que constituía milagre. Dr. Bezerra falava em obter o telégrafo, trazer uma fábrica de gelo para o pescado, levar avante os serviços hidrográficos que pararam, calçar o aterro entre a intendência e a igreja, erguer dois cata-ventos para água potável, comprar novos instrumentos para a banda e instalar sob a direção do Major, uma foguetaria municipal. Era tudo por efeito de viagem recente à Europa. Diante do Major, passava e repassava o intendente cheirando a Paris, a lago suíço, a primeira classe da Mala Real Inglesa. E esquecido da administração e dos projetos, contava o que viu da Amazônia no Museu de Londres, os puros-sangues nas coudelarias inglesas e como beijou a mão de Sua Santidade o papa.
Major Alberto ganhara do seu amigo um presente anunciado antes com solenidade:
— Major, eu lhe trago da Europa algo que... Vai ver. Não lhe digo. Está no “Bicho”. Mande o Didico buscar os pacotes. Uma novidade.
E o volume chegava no ombro do porteiro, alto e pesado: eram catálogos da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Desfilavam [65] no chalé, dentro da rede, amostras de papel a cores, lanchas a gasolina, armas de caça, porcelanas e penicos, anéis e frigideiras, relógios de carrilhão e móveis para castelos, tapetes e tratores, grandiosas oficinas tipográficas, bombas hidráulicas e kodaks, pó de matar rato e maravilhosas Virgens Marias.
— Seu Alberto, na rede, lambe as miragens. É assim que o dr. Bezerra põe um pipo na boca do nenezinho.
Era o comentário de d. Amélia na cozinha para o Rodolfo, ansiosa para ver o que havia de modas, louças e lençóis no presente do doutor.
Uma inflamação dos olhos obrigou Alfredo a recolher-se durante dias na saleta, como bicho de caroço. De olhos vendados, febril e atento a tudo, ante a ameaça da cegueira, imaginava ao pé da rede a irmã cega de Muaná. Sucediam-se cenas da doença e morte de Eutanázio misturadas ao fogo no camisão de Mariinha. Sofria agora também por não ver refletida no teto a água da enchente, ondulando como fumaça pelas telhas, gravando a imagem dos peixes e das plantas.
Fechava-lhe os olhos um maldito pedaço de pano preto, do mesmo pano que vestia de luto as pessoas de Cachoeira. Era do mesmo fumo posto pelo pai no seu chapéu de palhinha e no braço pela morte de Eutanázio. Alfredo tinha horror àquela roupa preta em que Lucíola se enfiou por morte da mãe e com o suicídio do irmão. Meninos de preto, em roupas tingidas nas cascas e raízes lhe davam a sensação da morte sempre presente. E para castigo seu, pela primeira vez houve luto, pela primeira vez, no ano passado, saíra um morto do chalé. Este acontecimento, recordado agora com a inflamação dos olhos doeu-lhe infinitamente.
Antes se vangloriava de não ter acontecido morte alguma no chalé enquanto nas outras casas, sobretudo nas palhoças, quanto luto! Se o paludismo não voltava, as feridas da perna secavam, se o desejo do colégio o exasperava menos ou se transferia para data indefinida, as mortes em Cachoeira, desde o tempo da influenza, [66] flagelavam o menino, deixando-o arrepiado de pressentimentos. Entre os recentes terrores e visões surgia-lhe Felícia; no caixão negro, com quatro pessoas e um cachorro, atravessava o campo no sol da tarde. Com a carga de defuntos, passavam montarias pelo rio, num ruído de remos que caminhavam com o dobre dos sinos. Ruído que continuava a bater no coração do menino e o fazia pedir, num pranto súbito, na cozinha: Mamãe me leve pra Belém. Quero estudar, senão eu morro.
Da janela do chalé, via cabeças e chapéus de pano, cabos de remos na correnteza que os levava para a incessante plantação de corpos naquela terra encharcada.
Diziam que, no velho cemitério da vila inundado, os caixões boiavam. Por certo, os cadáveres saíam pelo portão, dispersavam-se pelo campo chocando-se nas cercas do dr. Lustosa. Procuravam voltar às suas casas batendo embaixo do soalho, ganhando o rio, rodando no redemoinho da corrente, atacados pelo cardume das piranhas, enrolados pelos sucurijus, repelidos pelos jacarés. Encontravam botos que se afligiam para salvá-los e se esforçavam em atirá-los no mangal da beirada. Alfredo tinha a visão colada no pano preto dos olhos. Toda a água que inundava o campo, rodeando o chalé, era água de cemitério em que boiavam as almas.
Alfredo ouvira Rodolfo contar o que sucedera a Felícia. A desenganada, vela na mão, falou em levar o seu crucifixo, a estampa dos arranha-céus que tinha na parede. Coitada, era delírio, pois os arranha-céus e o crucifixo desapareceram quando a barraquinha dela foi incendiada por Dionízio. Soube-se depois que um velha cabocla de sítio encontrou um resto carbonizado do crucifixo. Este, conforme maldou Rodolfo, iria adquirir sabe lá que poderes nas fazendas, roças, margens de rios.
Agora, de olhos escuros, Alfredo indagava a si mesmo: Felícia também boiava na cova? Navegaria atrás do crucifixo, gritando pelas beiradas o nome de Dionízio? Era uma imagem que o menino não esqueceria porque estava ligada à cena em que Felícia apareceu no chalé. Dionízio bêbado lhe havia incendiado a barraca. Pedindo socorro ao Major, ela subia os degraus da escada do [67] chalé, chamuscada e ensopada, depois de ter atravessado a enchente, arquejando, as pupilas como arrancadas pelo terror. Mal podia falar, a mão tremendo no peito e na queimadura que lhe sangrava no braço. Alfredo via nela uma espécie de meio mulher meio bicho, causando nojo e piedade ao mesmo tempo. Junto, enxugando-a, d. Amélia, para espanto do filho, chorava. Alfredo compreendia que a palavra “infeliz”, murmurada pela mãe naquela hora, tinha uma significação mais medonha do que pensava. Pois infelicidade era também estar morto e boiando naquelas águas tão espalhadas no rio e nos campos. E assim, de súbito, colou as mãos no rosto a pensar em Mariinha. Não, Mariinha viveria, crescida, dançaria nos bailes da Intendência, riscando o nome dos carnes feitos na tipografia do pai. E Eutanázio? Este, com efeito, rondaria a casa de seu Cristóvão, a espiar atrás das bananeiras se Irene descia para o quintal. Em noites de pesadelo, o menino via, de bubuia, o cemitério, de velas acesas, navegando nos campos, descendo o Arari. Era a cidade de pés juntos, iluminada, na direção do lago onde os mortos lá no fundo pudessem enfim sossegar.
Essas morres até então passsavam de largo pelo chalé, como as lanchas no rio. As vezes, ameaçavam, como que batiam à porta, afastavam uma telha do lugar a espiar Mariinha nas noites de febre. Para Alfredo o espantalho contra as mortes era sua mãe que sabia proteger o chalé. Via naqueles braços um poder de curar que não via em outras mulheres nem nos médicos lá em Belém, ou que passavam, tão raramente, nas lanchas dos fazendeiros. Em seu chalé, a vida estava íntegra. Isto o separava das outras casas de Cachoeira. O chalé era apenas um barco encalhado, à espera de maior inundação para poder seguir e nunca mais ancorar naquele porto. Exibia o privilégio de não ter um nome naquele poeirento e insaciável livro dos mortos do tabelião Farausto.
Mas a morte de Eutanázio encalhara para sempre o chalé naquele chão. As raízes do cemitério atingiram-lhe os alicerces, prenderam a sua ancora. Seus tripulantes e passageiros estavam agora submetidos à5 leis daquele porto. Daí em diante não podia se vangloriar mais. O cemitério alcançara a última casa que o desafiava.
[68] Alfredo sentia-se igual aos moleques de pé-rapado que lhe falavam de seus mortos. Contavam do sentimento dos pais e parentes, chegavam mesmo a imitar-lhes os soluços, gritos, as caretas. Os defuntos, contava Danilo, vinham passear nas noites sem lua, sabe lá com que saudade do acari assado na brasa, de um trago de cigarros, da tarrafa pendurada no esteio, daquele cheiro de peixe que impregna as barracas e as pessoas. Voltavam mesmo?
Alfredo, de olhos vendados, ouviu, em noite recente, a discussão a propósito entre o pai e um doutor chegado de Belém.
O pai retirou da estante os livros de Flamarion, escutou do doutor coisas da Bíblia, riu dos espíritas, leu um título de livro Força e Matéria. Tudo ficou muito embrulhado na cabeça do menino.
Voltavam ou não voltavam?
Para os seus companheiros moleques, os defuntos só faziam esta diferença: tinham-se mudado para o cemitério. Danilo afirmara: voltavam. Mas nenhum moleque nem Danilo seria capaz de puxar conversa com um deles. Não sabia ao certo se a mãe gracejava quando falou na cozinha a Rodolfo sobre a possibilidade de Eutanázio aparecer no chalé e ficar escrevendo horas e horas na saleta. Que escreveria o fantasma? Cartas a Irene, naturalmente.
Uma visita, na tarde mormacenta, o afastou daquelas visões e terrores. Era Lucíola, trazendo em sua companhia uma menina muito calada, de olhar aceso para o doente.
Lucíola tentou levantar o pano preto e examinar os olhos do menino que não permitiu. Naquela cegueira, os olhos pregados, dolorosos, o chalé abafava, as coisas adquiriam formas agressivas, os passos no soalho estrondavam.
A visitante passou algum tempo ao pé da rede, tímida, silenciosa — há quanto tempo não o via de bem perto! Olhava-o, reconstituindo os anos em que pudera entreter-se tão carinhosamente com ele, a ponto de querer tomá-lo da própria mãe. Por uns instantes só, desejou que Alfredo ficasse ceguinho para poder guiá-lo.
A erisipela, o suicídio do irmão, a solidão da casa velha, o rápido crescimento daquele menino que vira ontem nos cueiros e [69] agarrado à sua saia, tornavam-na prevenida, taciturna, embora dócil e ardente ao primeiro movimento que Alfredo tivesse para chamá-la.
Junto de Lucíola d. Amélia insistia que a doença dos olhos do filho não era nada. “Nessas coisas a gente nunca deve dar espetáculos”, sempre dizia. No entanto, a possibilidade da cegueira consumiu-a nos primeiros dias. A filha menor do seu Alberto com a primeira mulher, não ficara cega? Seus cuidados foram grandes, mas silenciosos e enxutos. Por fim, o doente melhorava. Ela afirmava que a fumaça das lamparinas quando cosia, à noite, com o filho no colo, tinha estragado a vista do menino. Lucíola falava que fizeram promessa a Santa Luzia e tinha uma vela acesa dia e noite no oratório para a imagem.
Agora, na rede, Alfredo revirava-se, suando, o pano preto queimava-lhe os olhos. A visita de Lucíola tornava-se importuna.
E a menina aí diante dele, calada, sem mexer-se na cadeira, por que vinha visitá-lo? Convite de Lucíola, jogo de Lucíola para lhe causar ciúme? Quem seria? Chamou a mãe e não perguntou o que queria perguntar nem pediu nada. Queria que a mãe espontaneamente lhe passasse a mão pela cabeça assim na vista de Lucíola. Com o sobrecenho, demonstrou o seu aborrecimento pronto para explodir. Nem Mariinha ali estava. Por que a cachorra Minu latia tão alegremente?
Lucíola compreendeu. Acreditava que o afastamento dele seria definitivo. Compreendeu também que os seus últimos encontros contribuíram para isso. Perdera a habilidade de entretê-lo ou não sabia renovar-se. Não tinha a diplomacia indispensável a quem queira tratar de meninos que crescem, como que de repente, ficando tão sabidos quanto os adultos. Realmente. Um dos últimos encontros não tivera bom efeito para intimidade entre os dois. Culpa sua, unicamente, refletiu Lucíola.
Alfredo ouvira o pai falar que o corpo da mulher tinha o talhe da palmeira. Absurdo. Seria medonho. Lucíola, por sua vez, para ir a um baile, casamento, batizado ou missa em dezembro, usava espartilho. Metia-se dentro de uma engrenagem de roupas incompatível com as palmeiras. Para tirar a limpo a sua dúvida, [70] inesperadamente visitou-a. Surpreendeu-a no quarto, despida. Ela deu um pequeno grito, tapando os seios com um pano de retalhos. O cabelo, que tentava, com a mão esquerda, sustentar no alto da cabeça, derramou-se pesadamente sobre o corpo inteiro. Logo, porém, baixou o pano e lançou o peso dos cabelos para as costas, abandonando-se numa intimidade que constrangeu Alfredo. Mas a curiosidade era maior que o constrangimento. O corpo da mulher tinha a brancura das galinhas cozidas. E foi nesse instante que ela lhe disse num timbre de ressentimento:
— Você bem que podia ter-se criado nestes seios Fredinho. Um calafrio trespassou-o. Surgiram-lhe no pensamento aqueles peitos cheios e escurinhos da mãe que espirravam leite em seus olhos no tempo que amamentava Mariinha. Fugiu.
Agora em seus olhos brotava aquela nudez de galinha depenada. Lucíola se despediu. A menina estendeu a mão, esticou a beira da rede murmurou um “adeus” que foi para o doente uma carícia. Quis tirar o pano, descolar as pálpebras, abrir os olhos que doíam.
Distinguia bem o andar descalço da pequena, os pés no soalho liso-liso.
Lá fora o vento arrancava a menina do chalé, levava-a nos seus ombros sobre o rio, os redemoinhos no campo, os arco-íris.
Embalou-se, embalou-se, chorando silenciosamente até que veio Mariinha.
— Que tu tem, hein, seu bobo, tu vais ficar cego só pra não ver mais os pedaços de queijo da despensa. Só eu que vou ver. Fique cego pra doce, pra banana, pro mel...
E seus dedos miudinhos se enfiavam nos cabelos do irmão.
Alfredo pensava na misteriosa e tão calada visitante. O vento arrebatava a menina, soprando-a para longe, quem sabe se na embarcação de Danilo e para que não voltasse nunca mais?
Quando d. Amélia desceu para o quintal, de tamancos, suspendendo a saia sobre a lama e enfiou a cabeça entre as estacas para ver a horta destruída e tomada pelo capinzal, Alfredo atrás [71] sentiu que era mesmo o fim das grandes chuvas.
E que súbita diferença no chalé! Já o fim da tarde, sem um gota de chuva, fazia o sol bater de cheio nas janelas da frente, que mar o caruncho da escura parede da casa grande do coronel Bernardo, dando um tom macio e reluzente nos matos, casas, rostos. E entrava na saleta para refletir-se nos vidros da estante, embebendo os punhos das redes no quarto aberto e lavado.
Os efeitos da morte de Eutanázio passavam inteiramente. A visão de Mariinha se queimando e o pano de luto nos olhos de Alfredo iam com as águas no rio que baixava. Novas ilusões de colégio no menino dissolviam os últimos desenganos. Mariinha conversava com os passarinhos pousados na cerca, que vinham anunciar o verão. Danilo não podia mais navegar nos campos nem encostar a montaria ao pé da escada do chalé para trazer gogós, taperebás e histórias. Defronte do chalé, à beira do rio, a boa árvore, a Folha Miúda, se enchia de pássaros desconhecidos.
A “Lobato”, subindo o Arari, apitou, quase sem fôlego, na curva do estirão que desemboca à vista de Cachoeira. A seu reboque lento, contra a vazante, barcos passaram, de dois mastros, depois canoas de um só, pintadas de novo, velas enroladas, cheias de gente acenando e gritando em cima dos toldos. Um novo apito e pessoas corriam para o trapiche. E atrás da fila da embarcação, por estranho que parecesse, vinha uma igarité de vela içada, azul, de um azul que mal se distinguia do azul largo e denso que era aquele primeiro céu de verão. Outro apito de lancha, alguém no trapiche desatou o laço de jornais, a mala do correio desembarcava, eram catálogos para o Major.
D. Violante de rosto em cima, ajeitava os óculos, à janela, mandando o filho recolher o corte de brim que enxugava nas estacas da cerca em meio de um maracujazeiro em flor. E logo um jornal caiu na mesa da máquina de costura, cheia de noticias do mundo, completando o verso em Cachoeira.
Alfredo olhou os campos, como se visse algo muito além, acima mesmo do seu próprio entendimento. Quem escutaria o seu instinto, a massa obscura e já efervescente de seus sonhos e desejos [72] que o verão despertava? Tinha um olhar inquieto, o rosto ao sol, o coração distante. Queria saber o que significava a vela azul da igarité, içada sem nenhum sentido. Foi ao trapiche ver de perto. Lá estava Danilo, apalpando a vela que descera, abandonada sobre o toldo, não enrolada ainda. Então Alfredo sentiu a paixão de Danilo pelos barcos, pelo ofício de navegar. Também Danilo queria viajar, ter um estudo, dirigindo velas e lemes, no colégio da navegação. Aproximou-se do rapaz — pois Danilo lhe pareceu mais crescido, mais alto, quase homem — e lhe pousou a mão no ombro, como se ambos fossem confidentes de uma mesma ambição.
Voltou sozinho.
Ficou da tarde uma claridade longa, cheia de odores, vozes, nuvens baixas que se derramavam, vermelhas, no poente como longos cabelos desatados.
Vinha a noite, noite de verão, d. Amélia cantava. Na mesa da saleta, Alfredo encontrou o pai a escrever, que escrevia? Cartas ou endereços para os Estados Unidos, França, Suíça, Alemanha e Inglaterra, pedindo catálogos? Ouvia-se a caneta cair no tinteiro como uma torneira pingando, de leve e continuamente. Quando escreveria o pai a carta que o mandasse para o colégio?
De repente, um chamado lá da cozinha. A voz de Mariinha, num tom de censura, que lhe tocava o coração, como a última exalação da tarde.
— Mas, maninho, o querosene. Tu te esqueceste hein? Senão vai ficar tudinho no escuro.
Trazia a garrafa para o irmão que logo correu, em silêncio, na direção do Salu.
O que confirmou o fim das grandes chuvas foi a desmanchação da ponte que se improvisava da escada do chalé ao aterro da rua. O aterro seguia, estreito e enlamaçado, passava defronte da Intendência, desembocava no largo da Matriz. Para levantar e desmontar a ponte, a iniciativa partia de d. Amélia. Logo que as primeiras grandes chuvas começavam a engrossar o rio e a inundar a parte mais baixa da vila, d. Amélia chamava o Dionízio, Luiz Filho e outros que iam ao mato tirar forquilhas para a armação. [73] Major Alberto, impaciente, observava-os da janela.
— Estão rendendo a obra para ganhar mais almoços. Como se eu fosse fazendeiro. Um inverno desses, serei eu ainda o construtor da ponte.
E como encarasse d. Amélia, que mordia os lábios, disfarçando riso:
— Não? Pois veremos. Veremos.
D. Amélia fingia ar de espanto, de olhar crescido sobre ele:
— Uai, eu falei? Uai...
Ela mandava aproveitar o trilho de ferro da pontezinha que ficava durante o verão sobre a vala defronte do chalé. Era um trilho da velha draga, ligado a uma imprecisa recordação de Alfredo. A draga cavava o rio, depois foram suspensos os trabalhos. Lucíola, uma vez, explicara-lhe, num tom que tinha para o menino o encanto e as imprecisões de uma história inacabada:
— Meu filho, o rio estava secando e coronel Bernardo mando buscar uma draga para cavar o rio, senão os barcos e as lanchas não passavam mais. Dragou, dragou, tirou ossadas de índios fundo e depois, como tudo em Cachoeira, a draga parou. Foi jogada ali noutra margem que você está vendo. Tiraram a máquina, a caldeira e ficou foi só a armação de ferro velho.
Alfredo virava Lucíola em locomotiva de corpo nu e fumegante, puxando a draga pelos trilhos no campo. A cabeça era a chaminé com a fumaça dos cabelos. Um lagarto verde e gordo roscava-se nas rodas de ferro. Muitas tardes, Alfredo compunha para a moldura da velha draga uma paisagem particular. As árvores que via, junto da beirada, destacam-se das outras e horizonte, com uma dimensão íntima e vária, verdes como se alimentassem da infância da solidão e dos desejos do menino. atravessaria o rio, para visitar o lagarto e andar pela armação da draga, encantado e temeroso como se estivesse numa perna?
O pedaço do trilho que sua mãe aproveitava para a ponte merecia por isso a sua estima. Não o perdia de vista no meio das tábuas e forquilhas certo de que ele voltaria à pontezinha, mais comido de ferrugem, coitado. Também havia velhas tábuas [74] muito suas amigas que, passasse o inverno, viesse o verão, serviam sempre, lisas umas, outras roídas de bicho, que se deixavam pisar por tantos pés na lama, sobre a água ou na poeira, tábuas em que o menino quantas vezes, se deitava de costas, olhar nas nuvens.
Luiz Filho estendia as velhas tábuas soltas nos trilhos e experimentava-lhes a segurança, pisando fortemente na ponte que rangia e balançava, tremendo aos pés. Estava ligado o chalé ao continente. Os construtores subiam a escada, molhados, roxos por um bom gole, esta e aquela sanguessuga agarrada na perna.
Major Alberto, ao sair da Intendência, nos seus tamancões, sempre no seu paletó e gravata, andava cautelosamente nas tábuas que estalavam e fugiam na ponte meio movediça, no risco de pisar na ponta de uma delas e, tibungo! n’água. Então o secretario municipal condenava a péssima obra, invariável todos os invernos, feita pelos velhos cachaceiros e paga como “se fosse a construção de uma ponte pênsil na América do Norte”.
Uma diferença notou Alfredo durante a ponte no último inverno: não se ouviam, altas horas, os passos incertos de Eutanázio cego porque seus olhos vinham cheios de Irene. Escolhia as tábuas ao pisar na escuridão? E para o menino, aquela ponte no escuro tinha sido uma das suas aventuras mais sonhadas. Uma noite desceu da rede e caminhou até o meio. Que riscos, que perigos, que mar de escuridão atravessara!
No último inverno, pudera vencer todos os obstáculos da treva, inclusive o medo, e ficou junto ao seu trilho, de bruços, numa das velhas tábuas mais conhecidas, olhando a água. Esta se arrepiava alguns instantes, um peixe talvez, um sopro de vento, o vago reflexo das estrelas que pareciam brilhar mais por terem à sua disposição espelho tão tranqüilo ao pé de um menino.
Observou com estranheza que, na desmanchação da ponte, a mãe punha a cachaça nos copos, excitada, o olhar brilhante, fixo na aguardente que espumava.
Ao voltar da Intendência, trazendo, com a notícia da vitória do dr. Bezerra, a segurança de seu emprego, o major Alberto não encontrou mais a ponte. O trilho reassumia já o seu lugar na [75] estiva das duas velhas tábuas sobre a vala por onde o Major passou, ralhando com Mariinha. A filha descera ao pé da vala, e a medo, de leve, a sobrancelha crispada, experimentava pisar o chão verdoengo que boiava da enchente morta.
Noutra tarde, Major Alberto desceu a escada da cozinha com um pacote na mão, era a encomenda das sementes para a horta. As galinhas, que restavam do inverno, corriam olhando para o pacote, feias e arrepiadas como urubus velhos. Alfredo desceu o quintal e foi ver Danilo curar o bezerro cheio de bichos. Mariinha gritava como uma marreca selvagem. O menino foi até a porteira do cercado. No chão, macio como pele de recém-nascido, crescia uma cabelugem de capim com restos de mururés e batataranas. Que bom os pés nus na terra depois de tantos dias no chalé, tantos dias de solidão e pano preto, em que se encolhia como um embuá. Que delícia ver a terra desalagada, se enxugando.
Os pés deixavam marcas naquele chão que cedia ao pisar, as marcas secavam ao sol. Gravava a palma de suas mãos em alguns trechos do quintal, colhia o barro como se colhesse frutas.
Pôs-se a moldar bonecos, gostaria de fazer uma estátua semelhante à que viu no Dicionário Prático e Ilustrado. Ouvira seu pai falar em bronze fundido, em mármore — quando veria o mármore? — em pedras que serviam para imitar deuses, animais e anjos. Tentou esculpir Eutanázio, mas saiu um monstro. Quis reconstituir no barro a imagem de Clara — do barro se faziam as santas também — e nasceu um espantalho. Difícil a arte do barro. O dom estava nas mãos. E suas mãos nada sabiam.
Contudo resolveu moldar um boi e assim levou algum tempo neste trabalho, gravemente, junto ao poço, enquanto crescia o capim rente do cercado e morriam as últimas mas plantas do inverno.
Mas o trabalho cessou porque a seu lado, fedendo a creolina e a bezerro, estava Danilo, com o mesmo ar de navegante trazendo-lhe pupunhas.
Numa das viagens da “Lobato” pela madrugada, chegara um forasteiro. Ao ouvir palmas à porta do chalé, Alfredo [76] levantou-se, alvoroçado. Gostava de acordar assim quando cedo batiam visitantes, gente da cidade ou das fazendas. Viu amontoados no degrau um saco de borracha, a maleta de couro, um violão e a baeta vermelha. E andando pelo aterro, um rapaz alto, preto, chapéu de palhinha, olhava para o campo, o rio, as choupanas da rua de baixo. Olhava tudo com uma curiosidade divertida.
— Não me conhece, então? Não me toma a bênção? Mas estás crescido!
E entrou na saleta, com a sua bagagem, já o menino experimentava o violão.
— Mas não me conhece mais, não? Hein, menino sem memória? E onde estão os habitantes deste castelo?
Mariinha saltou da rede, espiou e logo voltou para o quarto, dizendo à mãe que tinha na saleta um homem preto-preto, mas por demais preto. D. Amélia deu uma risada, reconhecendo a fala, o riso, os largos passos do irmão.
— Mas como cresceste, Sebastião! Estás uma vara, rapaz. Um negrão, benza-te Deus. Mas que vieste fazer aqui? Que andaste fazendo por aí, me diz, Malazarte.
— Perseguido da Justiça, respondeu ele num tom lastimoso e logo a rir, abençoando e levando Mariinha ao colo. Veio depois o Major a quem Sebastião, com timidez filial, tomou a bênção.
D. Amélia abriu-lhe a maleta, o saco, examinou a baeta, averiguando as posses do irmão.
— Tu vais dormir na despensa, lugar de cacho de banana e preto. Vais vigiar os ratos. Mas que cabeça te deu para vir até aqui, desmiolado? Tu andas embarcado? Não estavas em Belém? Por que não foste para o sul? E perseguição da justiça ou de mulher?
Preparando-se para sair, major Alberto murmurava: um maluco. Mais um para o baco-baco. O pirão vai ser repartido com mais um membro da família. E se lembrou que lhe deveria confiar a guarda do gadinho do curral dos fundos. Uma idéia que o tornou satisfeito. Chegara a tempo aquele rapaz. O gadinho estava se desfazendo nas mãos alheias. O irmão de Amélia poderia tratar das vacas, curar bezerros, como pessoa de casa.
Mariinha e Alfredo, em torno do tio e da bagagem, [77] começavam a admirá-lo. E que altura e bonita voz! Era de um negro bem enxuto, bem lavado, o olhar contente, o sorriso carinhoso. como se penteava demorado defronte do espelho velho junto do oratório, pois entrava no quarto, íntimo, perguntando pelo tear em que a irmã fazia as redes, se o Major continuava lendo os jornais sentado no trono, no “coronel”. E a população no oratório, havia aumentado? A Santa Rita ainda não chegou?
— Ele continua namorando a imagem no catálogo.
— Eu te trouxe uma figa, Amélia. Ganhei na cidade.
Contou que estava com saudades da irmã. Havia passado alguns anos no chalé e não perdera o visgo daquele soalho. Passaria uns meses descansando de suas aventuras, trabalhos e viagens. Consentiriam?
— Mas se tu entraste sem licença, tu invadiste a casa, queres que te bote no meio da rua?
Alegremente cantando, com as pernas compridas em largos passos pelo quintal, encheu várias latas d’água no poço e se fechou no banheiro, longo tempo. Realmente, que copioso, que demorado banho, a ponto da irmã gritar da janela da cozinha:
— Ei, Sebastião, já morreste, te afogaste? Foi um rei da África que chegou? Estás virando muçu?
E reaparecia ele, toalha passada pelo ombro, a gritar com os periquitos que se aglomeravam no ingazeiro, a pedir à irmã o ferro de engomar e consentimento para ficar tratando das reses do Major durante aquelas semanas em Cachoeira.
— Quero aprender a arte da tipografia, disse, empinado, por puro gracejo, enquanto a irmã lhe mandava partir uma acha de lenha no quintal.
O menino foi descobrindo no tio as viagens, trabalhos desconhecidos, misteriosos elementos da água e da selva que constituíam toda a existência daquele preto, sorridente e jovem. Os tios, por [78] parte materna, viviam dispersos na Amazônia, e agora surgia um deles, o mais moço, de violão, pixaim partido ao lado, contando ao sobrinho o que este lhe perguntava sobre o mundo. E havia também no tio o ar de Belém, escutava nas suas palavras o rumor dos bondes, o apito dos trens, o movimento do cais, navios partindo.
Mas o tio começou foi lhe falando da pororoca da Caviana.
— Mas viu mesmo? A grande?
Era como se o tio tivesse conhecido um ente sagrado. Ah se lhe fosse permitido vê-la e ouvi-la, nunca mais lhe esqueceria a voz nem as suas três cabeças enormes abrindo as bocas de espuma para mastigar os matos da margem, partir canoas, revolver o fundo, virar navios...
E seu tio estava ali com os olhos e ouvidos cheios da grande pororoca, de que tanto falavam. A do Arari, tão zinha, a do Guamá, embora de bom tamanho, como diziam, não se podiam comparar nem de longe com a que estourava fabulosamente nas bandas da Caviana, naquelas regiões incertas e arbitrárias da Costa Norte. Alfredo achava que ela nascia da própria Caviana, daquelas fundas cavernas da ilha, imaginadas por ele. E a sugestão do nome da ilha dava ao menino uma vaga visão de ave vermelha, o bico preto, furando os olhos de um jacaré.
Sebastião falou-lhe do rio Juruá, lá no Amazonas, quanta lonjura. Viajara em navios gaiolas, coisa que o sobrinho nunca fizera. Apenas contemplava-os nas fotografias ou quando os viu em Belém, no porto ou naquele ano, com a chegada do “Ajudante’», em Cachoeira. O gaiola se arrastava no leito do rio, trazendo o governador.
Sebastião andara pelo Juruá, na mão do padrinho, um senhor mulato, de coração grande. O padrinho se aventurara de Ponta de Pedras para o Amazonas, dizendo que voltaria depois que tivesse extraído das vacas leiteiras do Alto Amazonas uma casa em Belém, uns juros no banco e o colégio do afilhado. Misteriosa linguagem do padrinho. Sebastião era nesse tempo um curumim entanguido, de olho rajado, meio preto, meio cinzento e manso que [79] nem jacamim. Seguiu o padrinho no rumo do Juruá. Quantas vezes ouviu do padrinho: “Vou tirar leite das vacas”. Até então não tomara conhecimento daquelas vacas. Um dia, o padrinho retirou o curumim das paxiúbas da palhoça e o levou para ver as vacas. E andaram. O menino principiou a dar sinais de cansado. O padrinho reparou e, a bem dizer, ralhou: Ora, mas se mal andamos? Tu não queres ver tirar o leite das minhas holandesas? Andaram até que o padrinho tirou o carnaúba da cabeça, limpou suor com a beira do chapéu, dizendo: chegamos. Aí o menino se admirou muito, sem contudo manifestar essa admiração. Olhava para o chão coberto de folhas, para o céu fechado pelas folhas, os lados que a folhagem forrava e era só árvore, e tanta e quanta arvore! Umas altas, descascadas, com que sangravam, mas um sangue branco e logo escuro. E por tudo uma escuridão verde chovendo das folhas e dos galhos. Mas onde estavam as vacas, que poder tinha o padrinho de ver as vacas onde só havia árvores compridas, cortadas de cima a baixo, com tigelinhas grudadas no tronco?
O padrinho não explicou nada. Sentado no chão, mordido de mosquitos, orelha cheia do zumzum dos bichos, o menino via o padrinho com a machadinha golpeando a árvore, a aplicar a tigelinha no tronco, tal como viu, uma noite, a sua tia aplicar a ventosa na barriga de um velho que gemia. Teve uma interrogação muda: as árvores não sentiam dor com isso, não parecia doer? Aquelas vacas nem mugiam e os bezerros onde estavam? Foi esta a única pergunta maldosa que fez ao padrinho. Os bezerros mamam à noite, trazidos pelo curupira, respondeu o seringueiro que acumulava na sua barraca muitas peles de borracha na intenção de descer as corredeiras e vender o seu produto a bom preço. Assim teria a casa, os juros e o colégio do afilhado. Sebastião não entendia porque o curupira... Então o tio falou que era, sim, o curupira, o vaqueiro daquelas vacas. Curupira, de dente verde, dava flecha encantada para o caçador que não perdia uma caça. Mas em compensação pedia ao homem um pedaço do seu fígado.
Aí, interrompendo a narrativa do tio, Alfredo lhe indagou:
— O sr. deu?
[80] — Mas o que, então, meu sobrinho?
— Um pedaço de seu fígado.
O tio abriu na risada e disse que sim, dera um pedaço de fígado ao curupira que comeu com o dente verde. Por isso mesmo, em toda a parte, mal bota a vista e mira a caça e logo esta vem caindo, mas vem caindo direitinha na sua mão ou a seus pés.
— Morta — morta?
— Mas não sou um caçador encantado? A flecha que curupira me deu não traz o encanto? E peixe, é capivara, é onça.
— Trouxe a flecha?
— Guardo dentro de uma bainha aí na maleta. Terei ocasião de mostrar ao meu sobrinho, disse o tio com fingida solenidade.
— Mas conte a história de seu padrinho. Ganhou a casa? E o colégio?
O tio suspirou como se o suspiro fundo fosse parar pelas distâncias do Juruá. Logo que principiaram as chuvas, o padrinho juntou a borracha e o afilhado num batelão e foi passar as corredeiras onde se alagou. Sebastião não se lembrava bem, era bem jitinho para ter um juízo bem cerro de tudo que sucedeu. Ouviu mais tarde contarem que o tiraram d’água, graças ao Santo Antônio que ia no baú. A imagem, de bubuia, rodava na correnteza, domando a cachoeira.
— E Santo Antônio, perguntou Alfredo, podia amansar a pororoca grande? Tinha tempo de puxar fôlego? Podia?
— Os santos têm bom fôlego.
— Podia amansar até cinco pororocas?
— Olha, meu São Tomé, assim dizem as crenças.
— Mas me conte como foi que Santo Antônio, feito de barro, boiou na cachoeira e amansou a água.
Sebastião não punha a sua mão no fogo pelos poderes do santo. Eram coisas da crença. Fosse de pau ou de barro, era um santo e o povo queria que os santos fizessem milagres. Era o povo que contava. O santo, por isso e por aquilo, salvou o padrinho e o afilhado das águas. As águas da cachoeira foram se amansando e o padrinho tomou pé numa pedra. Mas as borrachas foram-se embora na correnteza.
Perdida a borracha, o padrinho se apaixonou, de não levantar a cabeça. Pois havia caminhado anos naquelas estradas do seringal, defumando, contando as peles, moído de mosquito e febre, varado de espinhos e lá se foi tudo pela cachoeira abaixo. Tentou, depois, por desgosto ou por saudade da roça que abandonara em Ponta de Pedras, plantar tabaco que subira de preço naquela época. Chegou a fazer um roçado, mas uma tarde saiu com Sebastião, a caçar macaco. Da carne de macaco fazia isca de pescar. Atirou num macaquinho que deu um balanço longo numa ponta suspensa e comprida de cipó, salpicando sangue pelos ramos e desapareceu. Atirou noutro, o bicho fez uma tal cara de aflição, tão de gente, mas tão de súplica, que o padrinho vacilou no segundo tiro. O macaquinho fugiu. Sem uma isca para a pesca, o padrinho, a modo de um pateta, caminhou para a barraca onde uma pessoa lhe ofereceu um biribá. Mal abriu, tirou uma prova e foi passando a fruta para o afilhado. Começava a sentir qualquer coisa por dentro do corpo, a retorcer-se, a passar as mãos pela barriga, gemendo. Sebastião foi caindo no sono em meio daqueles gemidos. Quando amanheceu viu homens e mulheres estenderem panos numas tábuas para onde trouxeram o corpo do padrinho, uns carregando pela cabeça, outros pelos pés. Acenderam uma vela à cabeceira do padrinho, cobriram o corpo com um lençol cheio de nódoas. Por que? Sebastião perguntava a si mesmo. Que fizeram com o padrinho que não fazia um movimento, não olhava nem falava? Aproveitou um instante em que ele e padrinho ficaram sós, no jirau da paxiúba. Bateu no ombro do padrinho e disse, depressa e em segredo:
— Ei, padrinho, se acorde. Já é dia. Se acorde. O sr. não ia caçar?
Ficou olhando para a vela que, curiosa como o menino, se dobrava sobre a cara do padrinho oculta no lençol. O menino queria falar de suas indagações a alguém, mesmo que fosse a machadinha, as tigelas, as folhas de abade para o fumo que estavam ali perto do adormecido. Queria entender-se com o padrinho, sem atinar com aquele silêncio e aquele sono. Que mistério era então esse outro que fazia recordar o caso das vacas, o dente verde do [82] curupira, ou teria este tirado o pedaço do fígado do padrinho? Mas voltaram as mulheres e os homens dizendo que o padrinho não podia escutar, não podia acordar mais. Por que não podia mais? Aí não sabiam explicar. Esperou que todos saíssem novamente e foi suspender o pano da cara do padrinho, oh, lembrava-se bem, sentiu que o velho não podia mesmo nem falar nem se levantar, não podia mais tirar leite de suas vacas nem caçar macaco nem secar as folhas do fumo. O dente verde do curupira tinha lhe arrancado um pedaço do fígado. E viu foi sair do nariz do padrinho um verme, vivo, que rolou pela face, em seguida outro que atravessou o canto da boca. Ah, eles fugiam com pavor do que havia lá por dentro. E tentou espiar pelo nariz, pela boca entreaberta, pelos olhos, suspendendo-lhe a ponta das pálpebras, pelo buraco das orelhas, do lugar de onde saiu o pedaço do fígado, novamente pelo nariz de onde os vermes fugiam. Então o menino fez uma careta, os olhos se arregalaram, soltou um grito, sumindo no meio do mato.
Depois, juntou-se com uns seringueiros que vinham fugindo de um seringal brabo, uns com febre, outros com a perna tremendo, aqueles contando horrores. Andaram atravessando corredeiras, seringais, acossados por pium, sezão e fome. Um dia, saíram num rio largo. Atracado ao trapiche, carregando borracha, um navio apitava. Os homens caíram ao pé de um monte de lenha onde um gato cochilava, e dormiram, dormiram um sono de jabuti. Quando anoiteceu, depois que o vapor se foi, Sebastião viu uma lua saindo dos matos, primeiro como um olho de onça, depois subindo oleosa, que escorria no telhado do barracão, na gaiola pendurada na janela, nos esteios do trapiche agora altos porque a maré vazava. Um grito do urutaí atravessou a mata que se sacudiu, espantada. Por fim, um violão, na cabeça do trapiche, tocou. Sebastião foi se aproximando do caboclo que tocava. Só havia quatro cordas no instrumento. O caboclo, cor de ferrugem, cabelo empinado e duro, tinha no ombro feia cicatriz de uma luta com [83] onça. O pretinho espiava o caboclo que com tão gosto ia ponteando. Era uma admiração no guri: pois mão tão grossa, que brigou com onça, sustentou cedros, puxou canoa nas cachoeiras, tão pesada em cima das cordas, dedos tão brutos podiam tirar aquela musica fininha do violão? E tão íntima, falava tão delicadamente de uns sentimentos misteriosíssimos para o pretinho! O caboclo tocou, tocou e uma corda rompeu-se. O tocador, indiferente, continuou. Partiu-se nova corda. Ficavam duas apenas. O caboclo não se rendia, tocando sempre. Na sua teima, se todas as cordas rompessem, continuaria a tocar até que o instrumento voasse de sua mão. E como visse o pretinho tão embevecido, o caboclo passou-lhe o violão e fez sinal com a cabeça para que experimentasse tocar. Também com um sinal de cabeça o pretinho disse que não. E se viu, porém, com o violão em cima de seus joelhos sujos e magrinhos, o luar luzindo nas cordas partidas, como se estas soassem ao contato da lua. Com o dedinho roçou uma corda, corda fria, nem um som. De repente, entregou o violão a seu dono e saiu correndo, deu uma risadinha, achou uma alegria em tudo, saltando pelos toros de pau na beirada, descobertos pela vazante, pendurando-se pelos cipós, sentindo a selva, a lua e os bichos ao alcance de sua mão. E como uma rede branca suspensa entre as duas pontas negras do estirão o largo rio se embalava.
Já em Muaná um tio quis obrigá-lo a cantar no coro da igreja.
— Respondi que não e ele, por isso, me deu uma senhora surra! Fugi. Escondi-me numa canoa no porto. Quando dei por mim estava navegando nas águas da Caviana, na canoa “Boas Novas”, em companhia de uma missão evangélica. Como viajei pelos rios! Ajudava o cozinheiro. Aprendi a cantar. O pregador mandava encostar a embarcação de barraca em barraca, reunindo aquela triste gente seminua e amarela que escutava os cânticos e pedaços da Bíblia, comendo melancia à falta do comer.
— E aí então viu a pororoca?
O menino seguia os movimentos do tio que contava a história no quintal, imitando a pororoca.
— Vi a uns cem metros de distância da canoa. Três ondas em cima de nós. Aí “gritei”, mas só pra dentro de mim: Virgem Nossa [84] Senhora do Perpétuo Socorro, Maria concebida sem pecado (lá me lembrava de que estava num barco de protestante), Senhora de Nazaré, valei-me, que vamos mergulhar pra nunca mais.
Mas de repente as três ondas sumiram num funil lá do fundo e nenhum choque sentiu o barco, a não ser um estremecimento da cabeça aos pés dos que viajavam. Quando Sebastião abriu os olhos, lá subiam adiante, imensas, as três ondas levando tudo à frente.
A descrição curta, quase seca, do tio, desapontou Alfredo.
— Não era a pororoca, titio.
— Era a pororoca.
— Mas que tamanho, então?
— Cada onda? Tamanho deste chalé.
— Três chalés, então?
— Três chalés desembestando n’água.
— E por que o titio não botou rédea nas ondas e não montou nas três éguas da pororoca?
— Tu és maluco, é, hein, meu sobrinho?
— É parte sua essa de ter visto a pororoca. O sr. nunca é que viu a pororoca grande. Isso que o sr. contou nunca que pode ser a pororoca grande. Ver a pororoca grande é contar uma história, mas senhora história.
Sebastião amaciou o cabelo do sobrinho, abanando a cabeça. Contou mais de sua vida: ficara na fazenda Carmo, coração da Caviana. Ali, apanhava de corda, de relho, de umbigo de boi, para aprender a montar. Saltava no poldro, tombava, e o relho estalava-lhe nos joelhos, na barriga da perna:
— Aprende, negro, a montar. De novo, negro, monta.
Uma vez foi tanta a dor, a raiva tanta, que se sustentou no animal e fez a muxinga estalar em cheio no poldro brabo. Foi um fim de mundo. Os vaqueiros e o patrão gritavam:
— Bem na embigueira, negro! Bem na embigueira, negro!
Caiu do poldro, mas de pé, tonto, mas vingado, cavaleiro daí em diante.
Apareciam outros trabalhos: partir lenha, caçar, tomar a [85] bênção de uma velha que lhe respondia com um cascudo bem no meio da cabeça. Era a patroa. Tinha de lhe trazer o bacio, todas as tardes. A velha lhe agradecia com beliscões, apertando-lhe o saco como se quisesse capá-lo. Uma tarde, cego de dor, empurrou-a por um buraco do soalho, um rombo largo na varanda, e viu foi aquela carga fofa de cabelos, panos, ossos, gritos e gemidos se atolando lá embaixo. Fugiu. Chegou a Afuá, caçando tatus que comia assados na brasa. Ao ser ameaçado, por um sargento de polícia, d apanhar de palmatória, por um furto que não fez, saltou a janela da delegacia e voou. Escondeu-se no pirizal, atravessou um igara pé, ouviu cobra cantando, meteu-se num tabocal onde as onças dormiam. Semanas depois, era visto esfolando ombro de tanto embarcar lenha no navio “Cassiporé”, que fazia a linha do Oiapoque e de tanto embarcar caixas e caixas de caroço murumuru.
— Mas que tamanho o sr. tinha?
— Um pouco maior do que o sr. meu sobrinho, gracejou Sebastião.
— Deixe lhe apalpar sua mão.
O tio, rindo, estendeu a mão. Alfredo cerrou os olhos, segurando-lhe a palma grossa como feita de madeira, dedos cheios de calombos. Tinha o peso das viagens, dos trabalhos, dos sofrimentos. E quando o tio contou como caçava jacaré no Afuá, essas mãos pesaram mais entre as mãos do menino: os caçadores desciam dos cavalos, entravam no pirizal, sem se incomodar com os espinhos nem cobras. Surpreendiam o jacaré dormindo na lama, só o nariz de fora. Metiam a forquilha na cabeça do bicho, este escancarava a boca, logo dentro desta atravessavam um pau que a fera mordia; era o tempo de laçá-lo com corda de envira e arrastá-lo para o enxuto. A Alfredo era espantoso que o jacaré amarrado, com as patas viradas para trás, não lutasse nem se mexesse.
— E as cobras, titio?
— Sou curado, meu sobrinho.
Não contou, para não parecer pavulagem, que, ao matar uma sucuriju, tira sempre da cobra um pouco de banha crua e come. Falou das virtudes e artes do gavião cauré, com fama de fazer [86] ninho quando o ninho é feito pelas modestas andorinhas.
— Eu andava com pedacinho de ninho de cauré nos bolsos. Mas depois que soube... Não. Mas se o ninho é da andorinha? Ele se mete dentro do ninho alheio e faz a fama? Não.
— Mas titio, o sr. amansou o cavalo só por raiva?
— De primeiro, foi. Mais tarde aprendi que se reza a seda do rabo do cavalo e se enterra no fogão. Um instante, amansa.
O menino alisava o dorso da grande mão, suas linhas fixavam sombrias áreas de selva e de bichos.
No chalé, depois de tocar as vacas do curral, Sebastião passava a ferro o seu fato para os isguetes de sábado, ouvindo o invariável conselho da irmã:
— Tu cria juízo, Sebastião. Olhe, tu mexe numa pequena daqui e eu te faço casar. Mexe, mexe com as filhas dos outros. Experimenta.
E na verdade, as vizinhas vinham dizer a d. Amélia que Sebastião, embora negro-negro como a ave japu, mundiava as moças que caíam de olhos fechados no peito dele.
— Foi ferroado pela formiga taoca, d. Amélia. Por isso atrai mulher.
D. Amélia ria e logo ralhava; que formiga, que nada, era o fogo das moças. Puro acesume delas.
— Mas um tição desse? Ele não vai me demorar no chalé.
Pixaim partido ao lado, violão debaixo do braço, sapatos na mão, Sebastião voltava ao chalé, madrugadinha, e uma coisa não fazia: beber. Que cuidado para girar a tramela da porta dos fundos, com medo de acordar a irmã! Uma vez, acordou o sobrinho, que veio espiar, encantado. Era um tio de violão, o rosto mais escuro que a escuridão do corredor, belo, ferroado pela formiga taoca.
— Onde, titio, onde foi que a formiga lhe mordeu?
O tio quis levá-lo a um assunto impróprio, quis inventar, insinuar em que parte, como foi, ó formiga mais preciosa que a flecha encantada do curupira de dente verde.
Quando o menino apanhou o violão, o tio, de dedo nos lábios, lhe acenou que não tocasse, não fizesse um pio, que a dona
da casa podia acordar.
— Mas onde foi, então, que a formiga lhe mordeu?
O tio cochichou:
— E tu querias, meu sobrinho, que ela te ferroasse? Um dia?
O tio viu o menino baixar a cabeça, a modo de envergonhado.
— Pois eu vou procurar uma formiga taoca, meu sobrinho.
— Onde ela mora, onde faz casa? Diga a casa dela.
— Ó curiosidade, ó curiosidade.
Aquele mistério impacientou Alfredo. Sentia no colo, braço, cabelo do tio, o suor das damas e talco, azeite de andiroba, loção, baunilha, jasmim, todos os cheiros numerosos daquele sábado de isguete. Ele queria perguntar com quem dançou, o tio lhe pedia silêncio. E de leve, ligeira, a maria-é-dia bateu as asas na telha, piando-lhes: já é dia, já é dia.
O tio asseou com limão e sabão os sovacos suados do baile, encheu água da cozinha para a irmã, foi ordenhar as vacas.
O menino correu os dedos pelas cordas do violão, como se fosse correndo os caminhos do tio ou já estivesse partindo do chalé, longe, até o colégio. Depois, mão espalmada no bojo do instrumento, suspirou como pessoa grande. Ah, voltar do colégio, crescido e belo, e, à saída, no jardim, pousada numa flor, esperando-o, a formiga taoca.
O tio, no curral, conversava com as velhas vacas da família.
Alfredo, cheio de incertezas e apreensões, tinha que voltar à escola da professora chegada de Portugal. E sua mãe, que continuava a ter aqueles acessos e a dar gritos? Que estava acontecendo com sua mãe?
Olhava para o tio que não fazia um gesto, não lhe dava uma indicação. E quando Sebastião, num repente, desejou ir a Marinatambalo, subiu ao lago Arari, mais aflição deu no menino. Foi uma semana em que a mãe passou mal, mas que mal era, fechada na despensa, com um cheiro na boca e uns movimentos tão suspeitos? Alfredo temia que se confirmasse o que sentia, suspeitava, sabia. E ela a exigir-lhe que voltasse à escola, sem mais falar de [88] Belém, do colégio, da viagem...
Por que ter de ir novamente à escola e escola daquela professora que entrava na aula, como para um casamento, falando como deveria falar uma artista de teatro?
A escola era instalada na própria casa da professora. Sala de paredes descascadas, cobertas de fumaça; o teto sem forro, de telhas sombrias, arqueava-se sobre as carteiras gastas e aleijadas. Com a impressão da recente morte de Juca, o aluno mais velho, havia também um ar de luto em todas as meninas e meninos. Cadernos tarjados, professora vestida de mortalha, quadro negro como um ataúde, torrões negros na parede do corredor. As portas escuras mostravam o fundo enfumaçado da cozinha de chão batido de onde a cria de casa, a Coló, ágil e astuta, fazia sinais e caretas.
Vinha de lá de dentro também o cheiro dos pastéis e doces que a mãe da professora fazia para vender. O cheiro das meninas na aula seria do banho ou da idade? Entre elas, estava a de pestanas compridas dando sombra à face morena. A fala do grupo natalino “Borboleta”, saída de um cromo de folhinha, perdia o seu condão sobre o 2.º livro de Felisberto de Carvalho. Havia a Joana, rosto de lua, cachos de ouro, inteligente como um demônio. Alfredo observava-as, quase temeroso. Elas quase não davam pela presença dele, que ficava sumido, estranho às lições, à vivacidade delas.
A morte de Juca enchia a escola de um morno desgosto de estudar. Ao serem abertos, os livros bocejavam como os alunos, tão preguiçosos como estes. Redemoinhos de poeira entravam pelas janelas e excitavam as meninas de pernas suadas sem sossego debaixo das carteiras. Uma ou outra vez, furtando de sua madrinha, Coló atirava-lhes esta e aquela azeitona dos pastéis. O seu apelido era “Malagueta”, por ser muito esparapantada, pinoteando pela rua, cozinha e aula, cabelo na testa, olhar de marreca bem arisca. Na vizinhança, um velho papagaio soltava velhos palavrões que acendiam o olhar dos alunos, como se escutassem ali a única e verdadeira aula. A mesa, com o seu vestido tufado, diante do qual as meninas mal trajadas pareciam mendigas, a professora [89] exclamava, puxando os “esses” contra o sussurro da sala:
— Meninos!
E alisava no peito o broche, faiscante como um besouro, este e aquele dedo vigilante e cauteloso corrigindo um e outro fio de cabelo no penteado monumental.
Para Alfredo, que se rendia à sonolência e ao tédio, a professora virava um ser de giz, esponja e lápis, rosto de palmatória, orelhas de borracha, unhas de mata-borrão. E toda essa combinação de materiais escolares, pó de arroz e cabelo vestia-se, movia-se, falava!
O pior foi que o menino se deixou impressionar por certa insistência de sua mãe em falar nas cartas de uma esmerada caligrafia enviada pela professora ao major Alberto. Este, a princípio, surpreendido, não ocultou uma ponta de agrado, exagerando ao mesmo tempo o seu constrangimento ante as indiretas de d. Amélia. Com um ar de troça, ela tentava imitar a professora:
— Ai, major Alberto, creia-me... não habituei-me ainda a Cachoeira. O Major sabe, meus parentes de Portugal caíram na tolice de mandarem buscar esta humilde pessoa para passar uns tempos em Lisboa. O sr. pode perceber que devo estranhar... A mudança do meio. Acho esta cidade ainda agreste... Esta cidade...
Aqui, d. Amélia sublinhava, com zombaria:
— Cidade, estão me ouvindo? Cidade...
Estalava a língua para demonstrar pouco apreço e reproduzia a visita da professora ao chalé. Espiara do quarto pelo buraco da fechadura. Imitava-lhe o gesto, a voz, a cerimônia, os “efes e erres”, o inevitável “peço desculpas”, “mil graças”, “leve em consideração”, “creia-me” a “necessidade de chamar a atenção do sr. Vitor e família a fim de pôr cobro às inconveniências do desgracioso papagaio”, tudo isso num meio sotaque português que divertia o chalé.
— Muito delicada, educação finíssima, mas a roda a hora perguntando quando aumentam os ordenados, tão parcos, tão parcos...
Mariinha batia palmas e ameaçava:
— Vou contar pra ela.
[90] — Vai, vai, sua saliente, pulava Alfredo, olhando de revés para a irmã.
Que diferença entre sua mãe e aquele ser, de peças que pareciam facilmente desmontáveis como as do prelinho francês.
Major Alberto, arranhando a perna sobre a cadeira, fingia indiferença. Rodolfo abandonava a composição dos tipos e encostava-se à parede da saleta, o sorriso sob o bigode. D. Amélia simulava uma repentina seriedade e dizia numa voz lenta:
— Não esteja aí se coçando, seu Alberto. Não finja. É claro que não posso pronunciar bem as palavras dela porque não viajei em Portugal, não sou professora, não tive parentes para isso. Mas que você gosta, gosta. Não venha me dizer... E quando ela aparece lá na Intendência, toda entonada, hum! o major secretário, minha Nossa Senhora, só Deus sabe...
E enquanto o major Alberto fazia um muxoxo de impaciência e de contrariedade, ela enristava o dedo:
— E cuide de mandar meter o papagaio do seu Vitor e família na cadeia. Cuide. O mais engraçado é que o bicho não faz mais do que repetir tudo o que ouve, nos fundos, da própria mãe da professora quando faz pastéis. Os mexericos, os apelidos a todo mundo, os nomes, os segredos da vida alheia. Só sei de uma coisa. A professora quando está sozinha bem que deve gostar do desbocado. O papagaio conta tudo. Ao que parece, só conheço uma pessoa melhor informada do que ele e sabendo repetir melhor as conversas, é aqui o nosso ilustre Rodolfo.
— Aprendi com o louro, d. Amélia. O aluno saiu melhor que o mestre...
Major Alberto, então, intervinha, com a perna sobre a cadeira.
— Você troça, troça... depois isto se espalha, cai no ouvido da moça e aqui d’el rei...
D. Amélia voltava para a cozinha com Alfredo e Rodolfo atrás.
— Seu Alberto se dana... Faço isto só pra mexer com ele.
Era uma advertência a Rodolfo, o que não satisfez Alfredo, e logo acentuava, entrefechando os olhos num tom de graça:
— Pensa, então? Ele gosta. Fiem-se... Mas Rodolfo não vai bancar o papagaio por aí. Se falarem que eu disse isso, já sei que és [91] tu. Também Rodolfo, tu perdeste... Não tens mais um cuí de vergonha. Tua sorte é essa, criatura.
Rodolfo sorria e Alfredo sentia nele algo de um homem lisonjeado, na sua maledicência, esfregando as mãos.
Alfredo mastigava, calado, uma censura a mãe, observando, vigilante, o Rodolfo que procurava instigar ou investigar o que havia de verdadeiro naquilo. O menino olhava, com temor para os dois, lembrando-se das palavras do pai.
— E engraçado, continuava d. Amélia, destampando no fogão a lata de canhapira, cozido de carne feito no caldo dos frutos da palmeira tucumã.
— ... seu Alberto lê para mim as cartas que ela manda e guarda na caixa de envelopes. Lê mais de uma vez para descobrir, disque, os errinhos da professora. Eu só sei que, por qualquer coisinha, M chega o Laércio com o charão de pastéis na cabeça, trazendo uma carta, um bilhete e a correspondência aumenta.
E rindo, com o mesmo acento de fingida naturalidade em que tentava esconder um pouco de vanglória:
E dá prejuízo. Porque, justiça se lhe faça, a mãe dela sabe fazer pastéis. Que sabe, sabe. E quando o carteiro da professora aparece com o charão dos pastéis que vem vendendo, seu Alberto não se agüenta. E são quinhentos réis de pastéis. Talvez, quem sabe, para homenagear a futura sogra, não, Alfredo?
Rodolfo advertia:
— Olhe que é para vender o pastel... A mãe dela pede que ela escreva um bilhete e assim é pretexto para arranjar freguesia...
Esfregando o charuto nos dentes que, muitas vezes, à falta de pasta, areava também com carvão pilado, d. Amélia desvencilha-se das festas da Minu para dizer:
— Enfim, ele está vivo há muito tempo. Ninguém anda lhe empatando. Que arranje essa costela instruída. Que a professora assim como sai do quarto toda entonada pra aula, carregue também o bacio dele toda manhã, no inverno, como eu faço...
— Mas, mamãe.... censurou, afinal, Alfredo.
— Era ou não era um espetáculo?
— Eh, mamãe, eh! interveio Alfredo, já irritado. A conversa [92] humilhava-o. Sua mãe mostrava-se tal qual era, de fato, apenas mãe dele e de Mariinha. E a pergunta boiou em seu espírito, amarga:
— Somos ou não uma família?
Supunha que a mãe preferia, mesmo, aquela situação sempre interina, de intrusa e pronta a ser substituída. Não podia formular, quanto mais proclamar a situação humilhante: amásia, rapariga do Major, vivendo com o Major, mãe dos filhos do Major, cozinheira...
Sua mãe, ao que lhe parecia, pouco ligava que fosse esposa, senhora ou esposarana do secretário. E por que os seus gracejos a respeito da professora com tanta insistência? De certo modo, a condição de sua mãe dava a esta uma independência no chalé que o menino não sabia bem como explicar. Era a dona da casa sem ser a senhora, e duvidava que esta valesse mais do que aquela. Chegava a ficar convicto de que ela não queria outra coisa, não por humildade, por “saber o seu lugar”, nem talvez por orgulho. Quem sabe se não era por orgulho mesmo?
Alfredo não percebia ainda que sua mãe, sem ambições conjugais, nunca se preocupava com isso. Nascera entre ela e Major aquele súbito entendimento em que se misturavam atração das peles, filhos, curtas reações do branco, o amor próprio da preta, a enxuta solicitude desta e o discreto pegadio daquele. O resto era por conta do chalé.
O menino insistia nas suas indagações: que faltava para que sua mãe fosse uma senhora? Ir aos bailes? Assinar o nome do Major? A cor? Este era o argumento mais decisivo. A incompatibilidade brotava aqui, disfarçada, tacitamente aceita pelo Major, irreparável. Entretanto pai e mãe não queriam deixar transparecer isso, mesmo d. Amélia sentia-se muito bem naquela condição, ciosa de sua cor. E assim o menino mais uma vez se enganava.
Alfredo lembrou que o perigo estava na agravação dos recentes modos dela. Major esfregava a testa, a calva, abria os braços, espichando o beiço, entre os seus catálogos, num gesto de incompreensão sem remédio.
Rodolfo fingia apenas achar graça na conversa para melhor [93] provocar d. Amélia que sorria, já meio encabulada, por ter deixado escapar um fiozinho de ciúme ou de ressentimento. Afinal, corrigia ela, mentalmente, a professora era moça educada. Tinha algum mal que seu Alberto conversasse com ela, recebesse suas cartas? Ele passava semanas e semanas sem encontrar também uma pessoa assim. Estava certa, o Major, com o seu comodismo, o seu desajeito, a idade, não iria adiante se bispasse alguma intenção da professora, alguma entrada desta para... Não diria “namoro”; que nome daria, afinal que aconteceria entre eles?
Em face de suposição menos agradável, d. Amélia tentava desfazê-la, procurando ver o Major numa e noutra intimidade, tão suas, no chalé, que o tornariam ridículo aos olhos da professora.
É verdade que estava causando aborrecimentos a seu Alberto. Neste ponto, d. Amélia deixava de refletir, fugindo subitamente à discussão íntima de seu mais grave problema. Saltava por sobre a fenda que se abria cada vez mais e por onde escorria o seu sossego, o domínio de si mesma e todo o entendimento do chalé. E como para desviar as atenções do Major sobre o seu próprio caso, a sua “doença”, d. Amélia, nos seus melhores instantes, continuava a falar nas cartas. Assim poderia confundi-lo, fintá-lo na vigilância que principiava a exercer sobre ela. Colocava-o na defensiva e protegia-se, tentando ocultar a fenda que se alargava.
O certo era que major Alberto, na sua rede, depois da sesta, os óculos e os sonhos esquecidos no catálogo fechado, refletia. Por que Amélia insinuara? Que viu na professora para suspeitar?
Coçando a calva, levantou-se e abriu na estante a caixa de envelopes onde encontrou as cartas da professora enlaçadas inesperadamente por uma fita cor-de-rosa — artes, naturalmente, de Amélia e com que fim?
Meio oculto pela porta da estante aberta, cheirou furtivamente o maço. Nada sentia da exalação que vinha dos vestidos dela e que lhe lembrava um pouco e estranhamente o cheiro da lança-perfume. As canas em papel fino e impessoal, convencionais e corretas, exalavam apenas gentileza que era, quem sabia? Todo o móvel da suspeita.
[94] Certa manhã, na Intendência, a professora fora reclamar uma caixa de lápis, pelo menos meia dúzia, para a escola municipal. A conversação foi simples, sem qualquer intenção por parte dele. Entrou no gabinete, solicitou os lápis, convidou-o a visitar a escola, reclamou novamente contra as indiscrições do papagaio, curvando-se um pouco, num ar de cerimônia na despedida. Lisonjeava-o, de uma maneira traiçoeiramente inesperada. E como noutra manhã., em que fora reclamar esponja e giz, fizesse elogios à “instrução” do Major, uma teimosa sensação de vaidade, como um calafrio, percorreu por inteiro o secretário. Foi, não resta dúvida, um momento de quase inquietação, quase. Quis, num sábado, saindo de seus hábitos, visitar a escola. Conteve-se à porta da Intendência ao olhar as três janelas do chalé ao longo da rua e que pareciam espiá-lo.
Mais tarde, conseguiu um auxílio municipal às “regatas” que a professora organizara, pela primeira vez, em Cachoeira, só para moças. A carta de agradecimentos foi motivo de troça infinita por parte de d. Amélia, que ridicularizou as “regatas”, descrevendo, sem ter visto, o espetáculo das montarias apinhadas de moças, fazendo de conta que remavam em ides e baleeiras. A professora, alta, com o leve desvio da espinha, o chapéu branco sobre o vestido azul que era o traje das remadoras, dirigia a festa, empunhando o guarda-sol e o estandarte das regatas, a extensa boca pintada num riso polido que descaía em falsete.
Major Alberto assistiu aos páreos no velho motor municipal, que voltara enfim do conserto. Explicava:
— O lugar, psiu, não era próprio. Aquela enseadinha rasa... A professora caiu n’água, de sapatos e estandarte, para empurrar a embarcação.
D. Amélia aí ergueu as mãos, fez uma cara de lástima em que seus olhos riam:
— E onde você estava que não foi acudir? Mas que cavalheiro esse...
Major dava um repelão, caía na rede, gaguejando:
— Está-se falando sério... e vem... com... com...
Passava daí em diante a responder à professora lançando mão
de certas frases que pudessem melhor revelar o grau de seus conhecimentos. Fez isso um tanto confusamente, acabando por [95] envergonhar-se consigo mesmo. Ousou ate mesmo uma citação latina. Mas riscou-a. Desafiava-a para uma competição que era ao mesmo tempo como um jogo de olhar ao sério entre duas pessoas que se fitam sem piscar e que e muitas vezes o treino para outro jogo, este sério de verdade.
Pensava, embora sem clareza, que aquela situação, tão fluída, substituía um pouco o vago expediente da Intendência, a ruminação dos catálogos, a eterna expectativa de aumento do ordenado, as raivas e o desgosto ante o que se passava de inexplicável no caráter de Amélia. Pelo menos, para o espírito, que amolecia e embotoava, era um bom exercício., Ou para o coração? Quanto a isto, não tinha susto. Saberia conhecer a sua idade e prevenir-se contra as fraquezas desta. Mas divertia-o aquele jogo de cartas, sentindo-se menos velho do que pensava, como criança quando encontra, esquecido no bolso, um pedaço de doce.
É claro que a professora não percebia, ou fazia isso por cálculo para divertir-se ou atraí-lo e levá-lo ao desfrute? Talvez achasse incrível que ele vivesse com Amélia e pudesse esta compreendê-lo. Que importava? Se ele mesmo quase não percebia e não consentiria em ir mais adiante? Aí estava o obscuro encanto.
E como d. Amélia persistisse nas suas indiretas, major Alberto via-se valorizado, indagando se não seria isso uma maneira de reconduzi-la aos velhos tempos do chalé.
Chegara a avançar mais do permitido, na realidade, exagerou as insinuações e o ciúme de Amélia, como as intenções e a gentileza da professora. Quando deu por isto, compreendeu, era o ar dos 60 anos que se aproximavam. Enganou-se também quanto à solução das crises no chalé, que se agravaram. Mas não se traiu. E aos poucos foi acolhendo com displicência, talvez calculada, as atitudes da moça, embora a correspondência prosseguisse em torno de vagos assuntos escolares. Divertia-se com as apepinações do papagaio, criticava agora o pedantismo de certas expressões, o exagero da delicadeza, cotejando o estilo das cartas com o seu. Uma [96] ou outra dúvida de linguagem e logo suas onze gramáticas o socorriam.
Descalço, na saleta, andando de lado a outro, fingindo-se manco, exclamou, uma tarde, para a Minu que era a única criatura que o escutava:
— Quer exibir-se, psiu... Exibe-se nas cartas e nos enfeitinhos. Mas a minha vingança é o papagaio.
Alfredo chegara a violar o maço das cartas e acreditou em algo que não via nitidamente, mas parecia borbulhando naquelas palavras corretas, na insidiosa letra da professora, no coleio do A maiúsculo, as entrelinhas da sem-vergonhice com que a professora queria ocupar o lugar de sua mãe. Sua mãe era esposa de uma outra natureza que não se substituía nunca.
Aquele contraste entre o negro e o branco tinha uma recomendação para o destino de Alfredo, pensava este obscuramente. Era um mistério — como se conheceram, como foi, que foi feito para viverem juntos? — que tornava subitamente maior o seu desejo de ser cedo um homem e dar muitos vestidos à mãe. Como permitir que aquela professora invadisse o chalé, apesar de toda a sua educação ou por isto mesmo, para tomar-lhe o pai, reduzir sua mãe a uma simples... Não, não sabia dizer o quê. E a última vez em que foi à escola, escreveu atrás do quadro-negro estas palavras: “Não se meta com meu pai”.
Até hoje não sabia a conseqüência delas.
Descontente com o boi de barro, as mãos pesadas daquela tabatinga alva e espessa com ralações de rosa como certos mármores, descontente por vício e por vingança contra o mundo, Alfredo refugiou-se no galinheiro junto à cerca sobre a qual crescia uma pitombeira. Dentro, entre o zinco da cobertura e a travessa, um calango espiava-o.
Voltou sentindo ainda maior a separação de Cachoeira do mundo, a do chalé de Cachoeira e a sua separação dos que moravam no chalé.
Adiante, azulavam os campos que o levariam até ao mar nunca visto ou para o clarão da cidade que em algumas noites parecia verdadeiro, mas tão longe. Pelo menos, chegaria a [97] Marinatambalo, sempre falado, de onde vinham mangas, tucumãs e histórias de fantasmas.
Ia sair pela porteira, quando sua mãe o chamou com tamanha insistência que retrocedeu, correndo como para proteger-se da fuga, proteger-se de si mesmo nos braços da mãe, porque as distâncias grandes o chamavam e lhe davam vertigens.
— Meu filho, vá tomar banho. Mude esta roupa suja. Veio de alguma olaria? Você pode apanhar vermes do chão. Não ouviu seu pai dizer que a gente pega lombriga da terra? Então vá ao menos se assear, seu embarreador.
Então Alfredo caiu no chão, apertou a cabeça entre os punhos, gritou:
— E o colégio, mamãe? Nunca mais vou pra aquela escola. As lombrigas acabam me levando pro cemitério. Não vou me assear. Vou dormir com esta roupa, vou encher de barro a rede, vou, vou, pronto!
Sua mãe deu uma larga risada espantando a nuvem de carapanãs que zoava sobre a ruína da horta, o capim nascente, sobre janelas.
Acolheu o filho nos braços, o menino se acalmou. Aquela risada dera-lhe uma súbita confiança e com a cabeça junto ao ventre da mãe, como que recebia novamente a vida, o impulso de um novo nascimento.
Foi subindo a escada da cozinha, sentia-se tão leve, desejou que a mãe o carregasse e o pusesse sentado na janela.
[98]
2
Alfredo comparava o préstito sombrio com as procissões na vila no tempo da influenza. A umidade subia-lhe pelo corpo, o coração queimava de desgosto. Aqueles brincantes de São Marçal cantavam como se chorassem defuntos. Era talvez a força da agonia de Dionízio pesando sobre eles.
O menino roçava pelos brincantes molhados, vestindo-se do luto que vinha do velório de Dionízio e se espalhava pela noite. Se um homem agonizava, por que não suspendiam a festa? E como recuado no tempo e na distância, o chalé desaparecia, com ele a casa de Lucíola, a janela em que a moça ficara e onde a sua larga testa oleosa era o espelho do sol. Foi-se o casarão do coronel Bernardo, o caminho ou rua da Municipalidade. No chalé, que estaria fazendo Mariinha? E doía-lhe a inocência do pai, a inocência do que ia acontecer.
Sob o atordoamento dos tambores, maracás, pragas e risos, homens cuspindo ruidosamente, mãos tateando cotovelos, peitos e bundas na sombra, Alfredo tentava ainda, confusamente, decifrar o capricho da mãe que caminhava, silenciosa. Sentia-se mais [120] criança, dominado por uma perplexidade e um temor próprios de Mariinha e não dele. E passava a ver tudo aquilo através das impressões que o capricho da mãe acumulara no seu espírito. Que poderia acontecer? Iria ela entrar em luta com alguém em plena rua, entre tambores, maracás e bêbados? Logo seria o pai posto fora da Intendência ou sua mãe expulsa do chalé. Como procederia no caso da expulsão? Sairia com ela ou ficaria? E Mariinha? Com esse súbito problema de consciência, amesquinhado e troçado pelos moleques, a mãe na rua, o chalé perdido, Mariinha gritando pelo pai, a mãe indiferente. Onde teriam de morar? Num sítio desconhecido, cercado de lama onde enterraria a sua viagem para sempre? Não saberia decidir-se. Procurava uma solução conciliatória que não vinha.
De pronto, lhe veio a indagação: seria por causa da professora? A língua da professora? E entendeu que não deveria ter escrito, atrás do quadro, a advertência “não se meta com meu pai”, mas “não se meta com minha mãe”. Quis reconstituir a língua da professora em seus detalhes. Comprida, apenas, com o volteio baboso dos esses e erres. Então, pensou em Lucíola, que significava quase um pedido de socorro, um apelo. Ou deixaria a mãe na rua e avisaria o chalé... Por onde andaria o cordão da “Águia” onde tio Sebastião desempenhava o papel de guarda-bosque? Estava ou não estava traindo sua mãe? Esta segurou-lhe o braço, o que lhe deu alento. Afinal, sua mãe tinha coragem, não se deixava humilhar por ninguém e afiava os dentes para cortar a língua da professora. Imaginou-a avançando, mais enegrecida pela cólera, com os dentes chispando de ciúme e de vingança. Ciúme? Vingança de quê? Aqui Alfredo hesitou. Ela faria aquilo talvez para protegê-lo e garantir a sua viagem. A professora estaria na iminência de se apossar do chalé e botá-los de lá. Mas outras suposições entraram no coração do menino. Teria sido aleive da casa de seu Cristóvão? Naturalmente disseram que foi ela quem matou Eutanázio.
Se não fosse coisa grave e ofensiva, sua mãe não estaria ali disposta a arrancar com uma dentada a língua que a ofendeu. O mal das pessoas vinha de suas línguas que tudo inventavam e tudo [121] mentiam? Como seria possível cravar os dentes na língua inimiga? Primeiro, teria de agarrá-la e o inimigo certamente morderia as mãos... Um processo difícil, que provocaria uma luta curiosa e para isso teria sua mãe força bastante? E que poderia fazer ele? Por fim, julgou-se bobo-bobo, pois sua mãe teria recursos para se desforrar do inimigo. Arrancar a língua? Mas até queria ver.
Caminhava entre desconhecidos, a noite tornava todas as pessoas desconhecidas. Os pés se fundiam na lama, chapinhando. E Alfredo procurou prestar atenção a uma nova cantiga, a uma pancada mais viva, do tambor, o ar se enchia do hálito dos bêbados, de odores misteriosos e ácidos, nomes obscenos e da soturna apalpação com que os machos cercavam e apertavam as raparigas. Estas já trariam nas mãos os sapatos molhados. Certos palavrões soavam como se fossem a única coisa festiva daquela noite. Saíam pesados de saliva e cachaça, entre cigarros acesos. Cresciam nas bocas como abóboras podres que se partiam nas caras e na lama com a explosão da injúria fácil e gratuita.
Entre esses palavrões, tão sagrado quanto impuro, saltava o nome de mãe, em torno do qual se improvisavam variações pornográficas e se inventavam histórias que Alfredo nunca ouvira. Aos poucos, essa palavra era uma abjeção, acusando uma origem obscena a todos que mutuamente se injuriavam. Alguém gritou ruma voz encharcada de cachaça:
— Maguá!
E a mãe! A resposta espremia o coração do menino. A nossa, Maguá.
— A de nós todos, gritou adiante o Farinha D’água.
Paridos da mesma mãe, fêmea de todos, injuriavam-se com o estigma da própria origem e ainda aí sentia-se, na evocação de um mito, o eco do pecado original em sua maldição bíblica.
Em Alfredo isso tudo se passava, ora com opressiva lucidez, pra numa obscuridade em que tentava compreender por que queriam aqueles homens transformar o nome de mãe em palavrão e vergonha de todos. E na verdade toda aquela injúria à mãe era diretamente lançada sobre a dele que ali se misturava, em carne osso, com eles e no meio das raparigas. As outras mães naquela [122] hora, resguardavam-se em suas casas. E quando se repetiram entre gracejos e raiva, o “papei tua mãe no algodoal”, “tua mãe foi meu pasto”, “abri foi tua mãe na beirada”, “dormi em riba de tua mãe”, sentia que era contra ela, que encarnava todas as mães, culpadas de os terem concebido, injuriadas e condenadas desde Eva.
D. Amélia caminhava, sem nada escutar, inatingível, o seu aroma a protegia das impurezas da noite.
Desceram para a primeira rua da vila de cima e avançaram pelo cerrado capinzal que ensopava as roupas. Mucuins passaram a atacar as pernas, subir pelos umbigos e sexos. Rãs e calangos saltavam espirrando lama e assustando as mulheres.
— Cuidado com eles, cuidado com eles, mulherada, que eles espiam...
A indagação de uma mulher: “Espiando o que? O que?”, era para o menino mais safada que a pilhéria dos homens. Em meio da música e dos tambores, ouvia-se um coro de sapos na vala próxima. Alguém atirou um pau, gritando:
— Calem a boca aí, seus padres.
Logo à frente acendeu-se subitamente uma fogueira, deu um tom vermelho de surpresa aos rostos que avançavam no escuro.
— Jogaram querosene nas achas.
— Não se queima lenha nesta noite. Fogueira de São Marçal é feita de paneiro, disse alguém à dianteira de Alfredo e duas pistolas subiram no ar e caíram em lágrimas luminosas.
Algumas raparigas perto de Alfredo entraram a lamentar o gasto de querosene naquela fogueira. Lá nas suas barracas estavam secos os pavios das lamparinas. Tinham que conservar o fogo das trempes, as brasas davam uma luzinha mal e mal para enxergar o caminho da rede.
Outra pistola subiu.
Alfredo desejou soltar alguns foguetinhos e compreendia que àqueles raros fogos comprados em Belém faltava a qualidade e beleza dos feitos por seu pai. A fogueira, vencendo a umidade e o chuvisco, alteou-se. Alguém atirou um sapo nas chamas. Uma [123] rapariga acendeu cigarro num tição. Os cordões continuaram a caminhar lentamente, dando tempo a que muitas pessoas, aos pares, passassem fogueira de “comadres”, “manos”, “primos”, “gosto meu”, “meu querubim” etc. E a voz do “Farinha D’água” subiu dó meio, advertindo:
— Passem, passem fogueira de São Marçal. Isto é para ficarem assanhados. Não basta já o que são?
E segurando a mão de uma mulher que arrastou ao pé da fogueira, o velho suplente fez a cerimônia:
— S. João disse, S. Pedro confirmou, que a gente havera de ficar assanhada que São Marçal mandou.
A mulher tentava escapar, a cabeça derreada numa suposta vergonha. O velho repetia as palavras e depois abraçou-a, dizendo:
— Já sabe, hein? De hoje em diante a gente só se chama de assanhado um pro outro. Boa noite, minha assanhada.
Os bois dirigiram-se pela rua da Boa Vista, parando diante de um chalé, antiga mercearia que tinha o nome ainda no frontal: Dinheiro Haja. Luzes de carbureto da janela iluminavam o trecho da rua. Situba apitou, ordenando o alinhamento do cordão paia a entrada do “Garantido” no chalé. Mas desceram ordens rápidas para que dançassem ali mesmo, num chão de areia e restos de calçada.
Alfredo deu com a moça numa das janelas — o chalé era alto. Aos poucos a foi reconhecendo pelo rosto moreno e oval, a passagem dela pela escola da professora Alzira — pulava corda no recreio, escondera-se, uma vez, atrás das colegas para amarrar as calças — os curtos cabelos cor de castanhas, a boca levemente entreaberta. Pontas de fitas caiam do seu colo. Atrás, à sua nuca, um leque fechado de alguém, rosto não se via. À luz dos carburetos, a face banhada por uma misteriosa expectativa, ela curvou o busto entre as fitas para fora da janela, as mãos cruzadas sobre a boca e assim ficou, solitária, cheia ao mesmo tempo de um deleite de menina, a olhar com uma grave distancia e uma doce curiosidade aquela gente que dançava.
— Meu Deus, disse d. Amélia, como Celina cresceu e está [124] bonita. E se lembrou de Raul, o pintor, que namorava a moça. Namoravam escondidos.
— Ainda fala um pouco gaga, mamãe?
D. Amélia, sem responder. Celina sorria e se virou para trás, disse alguma coisa à pessoa do leque. Seu perfil, então, se tornou lindíssimo na claridade. Alfredo seguia-lhe todos os gestos. Celina não dava intimidades aos que estavam na rua; de longe, e gaga, podia exibir imponentemente o seu orgulho. O bumbá dançava para ela, para ela Situba cantava, tudo aqui embaixo louvava Celina, tal era o seu poder na janela com aquele rosto queimado, a doração das fitas envolvendo-lhe o pescoço e o peito, o desassossego dos cabelos e o olhar imperioso.
— Diga, mamãe, ainda fala um pouco gaga?
— Não sei, meu filho... Talvez fale.
Entretanto, estava ali, perfeita. Não se podia imaginar melhor instante de juventude. Acreditava agora que não era em torno dos santos que flutuava o mistério desses clarões que circundam as imagens, mas em torno de jovens como Celina. Tão crescida estava, tão de repente moça! Seu rosto na janela, ao clarão da fogueira, tão humildes as raparigas que a contemplavam também, embrulhadas na sombra, os pés na lama! Como que viam em Celina a adolescência delas, restituída ou que deixavam de ter e a luz que agora e para sempre lhes faltava. E a lembrança de d. Amélia: e Raul? Tocava violino no cordão da “Águia”.
Situba entoou a saudação ao “boi de fama”, “senhor das malhadas”, “encanto das morenas”, iniciando a comédia. Ajeitou o chapéu, com pluma e fita, as luvas, sacudiu o manto de seda, arminho e vidrilhos, espichou o calção de cetim, enxugando o roso com um lenço cor-de-rosa. Era uni misto de fidalgo e escudeiro, sacudindo o maracá, o seu passinho no meio do círculo lembrava as danças do tempo dos reis. A luz dos carburetos, Alfredo viu quanta pluma, flores de papel, penas de guará nos chapéus, cocares de sarapantar, tangas cor de sangue, beiços tintos de urucu e papel encarnado, voltas de miçangas, espelhinhos nos peitos. Estaria um deles refletindo o rosto de Celina, feito medalha do rosto dela? — espelhos na cintura e nas coxas, um redondo, à frente [125] de uma tanga sobre o sexo de um índio. Neste espelho, poderia estar refletido o rosto de Celina, o que para ela seria já uma perdição.
Os carburetos revelavam ainda anéis grossos de tucumã, papéis dourados, meias até o joelho, algum veludo, algum arminho, entre o vago reluzir dos vidrilhos. O “Garantido” fazia os seus giros na roda, numa dança bovina, miúda e rasteira que fazia rir a moça da janela. Gente engrossou em volta, úmida, excitada, respingando lama; sapatos na mão, o bafo quente de cachaça e dentes podres, candeeiros apagados, tabuleiros de doce, panelas de mingau, chocolateiras, um ou outro jasmim numa cabeça de mulher.
A comédia, ao velho sabor dos bumbás, quase sem variante, se desenvolvia, monótona. Alfredo mal acompanhava o desenrolar das cenas e dos papéis, preocupado que estava com a mãe, com os movimentos de Celina na janela que agora parecia mais alta. Os mucuins lhe assaltavam as pernas, espalhando coceira pelo corpo.
Quando o personagem cômico, o Pai Francisco, feriu o boi, fugindo, d. Amélia bateu palmas, achando que o Cazumbá tinha feito bem o papel de negro velho.
E a senhora conhece Cazumbá
— Um primo de longe, meu filho. Filho de uma prima de mamãe.
Alfredo achou esquisito. Afinal pessoa de sua família pertencia também ao “Garantido”. Cazumbá era seu parente. Negro. Negro sem nenhuma atenuante. Sua família perdia-se em fundas e insondáveis origens negras. Dali vinha sua mãe e havia nisso talvez o segredo de seu domínio, de seus repentes, de suas extravagâncias.
A comédia continuava. O amo mandou chamar o tuxaua para ajudar a prender o Pai Francisco, que se escondera no mato, atrás de um rifle. Afinal, refletiu Alfredo, Pai Francisco era tido como mau, por quê? Por se atrever a erguer a voz para o coronel? Mas no bumbá do Situba, o Pai Francisco quis sangrar o boi para matar, com um pedaço de carne, o desejo de nhá Catarina, que [126] estava prenha.
Surgiam na roda os índios, primeiro submetidos a batismo. Apareceu o padre, desta vez descalço, a batina era uma saia tinta na casca de muruci. Situba, contrariado, fez-lhe sinal, perguntando pelos sapatos. O padre com um movimento de pés, deu a entender que lhe nasceram calos. E preparou-se para batizar os pagãos. Desfiou, diante dos índios, ajoelhados em círculo, o seu rosário de contas brancas. Cantou numa voz rachada:
“Batiza caboco”.
Os índios, em coro, contritos, respondiam:
“Não namoro mais... Não namoro mais.
Tornados cristãos, pois não namorariam mais, depois de fazerem de conta que falavam e cantavam língua de índio, fizeram uma evolução e desapareceram à procura do Pai Francisco. Alfredo achou ligeiramente estranho que os guerreiros índios se tornassem cristãos apenas para caçar um preto, para se tornarem cruéis a serviço do dono do boi. Não demorou muito e chegava o negro velho tocado pelas flechas batizadas. Já não era o Pai Francisco do começo, ligeiro de língua, no passo e na provocação, mas submisso, aterrorizado, e o amo, “senhor meu amo”, o interpelou. Situba perdia o ar cerimonioso de salão para ser agora o coronel no meio do curral, vingador, o fazendeiro. Por causa de seu boi, matava e esfolava. Seguiu-se o castigo do Pai Francisco. O doutor foi chamado, curou o boi que se levantou e volveu a alegria a reinar nos campos do “Garantido”.
A orquestra tocou a introdução para o cântico da moça, a filha do coronel, uma cabocla baixotinha, gorducha, vestido comprido de cetim, cabelo ralo, pulseiras, um botão de rosa esquecido no peito, montada num “luís quinze” branco, torto e enlameado. Era a melhor voz do baixo Arari e estava rouca. A seu lado, uma cabocla, de ar inquieto, abanando a cabeça, pressentia o insucesso da personagem. Mãe da moça, talvez, gesticulava falando com as outras mulheres, sem dúvida sobre a rouquidão, a extravagância da pequena ou culpando o tempo. A cantora viera mostrar como se cantava no baixo Arari e ali estava, de não se ouvir o que ela dizia. Na segunda parte do cântico, a velha cabocla não [127] se conteve e começou a cantar, ajudando a cantora. Neste ponto, observava Alfredo, o “Garantido” vencia o “Caprichoso”. A moça era mesmo de verdade ao passo que a filha do coronel, no “Caprichoso”, nunca deixava de ser o Pagão, tamanho biguane, de barba e fala grossa, metido no vestido da irmã, nuns enfeites comprados na cidade, uns seiões que nada tinham de donzela, os cabelos de cauda de cavalo, de vez em quando metendo a mão por dentro do vestido para tirar cigarros ou para um gesto obscenamente afirmativo quando alguém vinha gracejar com ele por causa do seu papel.
Os vaqueiros saudavam o restabelecimento do boi e Situba então lançou, de improviso, uma cantiga faceira que falava da morena na janela, enfeitada de fitas, “sonhando com os anjos”. Alfredo olhou para o alto. Alguém havia tocado Celina pelas costas, fazia cócegas, a moça se contorcia de riso. Debruçou-se na janela, o rosto suspenso sobre a roda do bumbá e subitamente endireitou-se, examinou o peito e arrancou uma fita, acenando para Situba. Este sempre cantando, compenetrado, com o fidalgo passinho de dança, fez um sinal também ao que ela obedeceu, atirando-lhe a fita nas mãos enluvadas. Continuando a cantar, Situba prendeu a fita no pescoço do boi que, dançando, fez reverencia para a janela. Atrás de Celina, várias moças e senhoras riam, em pé nas cadeiras, no meio da sala, e Celina mordeu o lábio para não rir desta vez, embora o riso pelo rosto inteiro borbulhasse.
Os vaqueiros, com os chapéus e as lanças em punho, saudavam o dono da casa. A indiada pés de borracha suava na dança escura e repleta de penas como se grandes aves marajoaras viessem também dançar.
D. Amélia assistiu ao enredo com singular atenção. Na verdade era pior que a comédia do “Caprichoso” em que os versos de Eutanázio continuavam a ser cantados. Mas havia novidade em Situba, seus improvisos, garbo e a vibração no seu papel. O Pai Francisco tinha umas graças que caprichavam em intenções safadas. Mas, reparou Alfredo, não faziam Celina rir. Amanhã, por certo, no meio das companheiras, haveria de repetir as pilhérias, entre gargalhadas.
[128] Situba apitou dando o sinal para a música da despedida, os índios pularam na frente, e o canto do adeus saudoso se espalhou. Desceu uma salva de palmas das janelas. As mãos de Celina nessa ocasião ocupavam-se em abotoar a blusa atrás para, em seguida, desembaraçar a infinidade de fitas no colo.
Feita a meia volta, os tambores aquecidos na fogueira, soaram com veemência, e o “Garantido” caminhou.
Lá adiante, o “Caprichoso” fazia evoluções. Quando chegou a uma casa da esquina, baixa, com um correr de janelas cheias de gente, d. Amélia resmungou qualquer coisa e apressou o passo.
Situba preparava na frente da casa o início da comédia, apitando. Espocaram novas pistolas, correram pelos pés “espanta-coiós”, restos de fogueira aqui e ali foram acesos.
Risos frouxos de raparigas, acuadas nos postes e nas paredes entre homens, tambores e sons de flauta, não deixaram ouvir as primeiras palavras que d. Amélia dirigia a uma das janelas. Alfredo puxou-lhe pelo cós da saia, pedindo que se calasse:
— Mamãe, que é isso?
Tinha chegado o instante que Alfredo temia mais do que nunca. As pernas tremiam.
— Mamãe, que é isso?
Mas sua mãe se aproximou da janela, estendeu o braço que alcançava o peitoril e sua voz se fez distinta:
— Agora, d. Finoca, chegou a nossa vez. A senhora já nem se lembra. Mas eu me lembro porque foi só agora, depois de tantos anos, que eu soube... Justamente hoje...
— Como?
— Só hoje, hoje, dia de São Marçal, foi que eu soube. Levei anos procurando saber. Saber quem foi que disse aquilo, que ficou atravessado aqui. Anos e anos. Hoje eu sei. O mistério acabou. Foi a senhora. Disto estou certa, como certa estou de que a terra há de nos comer. Não se lembra do que disse? Pois eu lhe repito para despertar a sua memória. A senhora disse que este, [129] o Alfredo, não era filho do seu Alberto, mas do Rodolfo. Tanto que disse que mandou buscar meu filho um dia para ver se tinha parecença, se era claro ou... E eu, besta, mandei meu filho para prestar a tamanho papel infame da senhora, d. Finoca. Agora soube. E justamente me preparei para vir dizer o que meu coração...
Algumas pessoas a reconheceram na sombra, tentaram intervir, mas d. Amélia foi se tomando de cólera à proporção que as atônitas mulheres das janelas, as Gouveias, procuravam responder.
— Se a senhora botar o pé na rua ou me deixar entrar a nessa casa, roubada dos órfãos de d. Marcionila, o menos que faço é arrancar essa sua língua da boca pela raiz. Arranco a dente ou a La. Venha agora examinar meu filho, pra saber... Venha! Traga seu melhor carbureto para examinar a pele do menino e saber de uma vez para sempre, quem é o verdadeiro pai dele!
Alfredo gritou para que sua mãe calasse, grupos rodearam-na e apareceu Didico, irmão de Rodolfo, de pistão debaixo do braço, pedindo nervosamente que ela não fizesse aquilo, visse o nome, a posição do major Alberto — depois uma conversa tão antiga, que se passara há tanto tempo. D. Amélia calou-se, arquejante, com um esgar, estranhamente sorrindo e os seus cheiros aumentavam com a sua raiva. As mulheres das janelas, que se recolheram, voltaram dizendo qualquer coisa, enquanto Didico segurava, de leve, tremulamente, o braço de d. Amélia. Presa à mão do filho, d. Amélia se inclinara para a janela de onde ouviu:
— A que ponto já chegamos que uma negra...
Rápida, afastando Didico e o filho, d. Amélia avançou para a janela e cuspiu grosso e violentamente no rosto da senhora. D. deu um grito. Didico saltou, o pistão caiu-lhe das mãos, as mulheres gritavam dentro da casa, janelas fecharam-se com estrondo. O “Garantido” recebeu ordem de retirar-se entre apitos e tambores. Duas raparigas na confusão puderam trazer d. Amélia pelo braço até ao pé da vala onde Alfredo, as mãos no rosto, soluçava.
[130] D. Amélia falou num tom carinhoso:
— Deixe, meu filho. A língua dela vai criar bicho.
Alisava as costas do menino que se assoou na manga da blusa:
— Queria que eu ficasse então calada? Engolindo o aleive? Você teria nojo de mim, filhinho. E quem não vê que seus dedos do pé iguais-iguais aos de seu Alberto... Também não tenho porque estar provando. O que me importava dizer, eu disse. Dizer na cara dela, saber que eu sei que foi ela que disse. Custou saber. Custou anos, anos e anos. Mas nunca é tarde para se saber uma verdade. Cuspi foi toda a minha raiva naquela cara... Eu... agora até dançava... E vocês ai... suas... que foi? Grandes coisas!
As duas raparigas sorriram, vexadas. Alfredo via-as irreconhecíveis, mudas e errantes na escuridão. Com elas, sua mãe. Longe cantavam os bumbás.
Fez-se um silêncio no trecho da rua, para que os sapos na vala voltassem a conferenciar alto. Passaram correndo, com os despojos de suas vestimentas no braço, alguns personagens do cordão “Águia” que se recolhera cedo. Alguém entre as estacas do quintal das Gouveias mijava como um cavalo.
— Venham cá, disse d. Amélia às raparigas.
Pararam diante de uma fogueira de restos de paneiros, cinzas ardiam. Alfredo esfregava os olhos. Sentiu um asco infinito ao pensar que alguém poderia ser seu pai e não major Alberto. A simples suposição disso dera-lhe uma crespa sensação de inferioridade. Chegava a ressentir-se contra a mãe naquela hora, pela possibilidade de ter um filho com o tipógrafo ou de haver dado a que falar, porque era uma infâmia, estava convicto disso. E assim brotou do seu coração flagelado uma tímida satisfação pelo gesto da mãe, embora isso talvez o condenasse a nunca mais ir ao colégio. Via a mãe, agora, entretida a pular fogueira com as raparigas e estas falavam, muito admiradas: Como a senhora está cheirando, D. Amélia...
Elas sentiam-se felizes de se verem, por alguns instantes, livres do pastoreio dos homens. Sentiam-se moças pulando fogueira com aquela senhora negra que lhes parecia mais honrada que [131] todas as brancas, que havia cuspido no rosto fino, tão bem tratado, de d. Finoca Gouveia, branca da cidade, parenta de fazendeiros e advogados, com um sobrinho na Escola Naval.
— Vamos, Dominguinha, pula... Se tu fosse moça, sua safada, não prestava pular fogueira de paneiro de S. Marçal. Fica assanhada. Mas tu já pagaste pelo teu assanhamento.
De que a gente passa, d. Amélia?
De madrinha. De agora em diante, vai me tomar a bênção, sua infeliz.
Alfredo viu na Dominguinha ao clarão das brasas uma palidez azinhavrada, beiços de defunta, rasgão na costa do vestido feito por um puxão de homem. Falava entre as gengivas podres. A outra, a Martinha, com as nádegas parecendo nuas na saia justa, era escura, gorda, uns grandes olhos de vaca.
— Vamos atrás do boi, vamos. Meu filho, aqui do meu lado.
Seguiram juntos como uma família.
Ao chegar ao bosque do Professor caiu uma pancada de chuva. Refugiaram-se num pardieiro, aos fundos, um gato miava sem parar.
Logo que passou a chuva, d. Amélia e as raparigas chegaram a casa onde dançava o “Garantido” — um salão de terra batida, teto de palha, lamparinas de pavios enormes, nos esteios.
E aí então, aproveitando o intervalo da comédia em que o dono da casa na cozinha, dava café e cachaça aos brincantes, d. Amélia subitamente apanhou o maracá de um índio, arrancou dos ombros de um cabocla um pano azul, enfaixou a cintura e surgiu no meio do salão, cantando e dançando, em passo lento.
Primeiro houve uma espécie de assombro entre a maioria das pessoas que a reconheceram. A seguir, num gesto de solidariedade, a orquestra tocou. Uma moça trepada no banco riu alto e vários espectadores fizeram ao mesmo tempo psius de atenção. Alfredo espremeu-se a um canto, atrás dos músicos, tremendo de cólera e vergonha. D. Amélia dançava e cantava e com um gesto fez a orquestra parar. Pediu ao violinista que a acompanhasse e se pôs a cantar baixo entre o silêncio geral.
Uma salva de palmas encheu o saldo quando ela acabou. D. Amélia com um novo aceno para o violão, consertando a garganta, principiou:
[150]
4
[218]
7
[269] Edmundo, no seu búfalo, apontou para a primeira ponta do mato.
— Será este o mondongo? Indagou a si mesmo, levado, de um ímpeto, às visões de sua juventude.
Atrás, na tarde imensa, iam Lucíola e Alfredo juntos num boi rosilho e a pé, guiando, o caboclo Emiliano.
Como que o sol fendia a terra com seus raios, tentando ao mesmo tempo petrificá-la. As visões de Edmundo desfaziam-se aqui e ali pelos pirizais secos, lagunas extintas, um tabocal caído, rastros de bichos, uma e outra árvore copudeira, torta e crestada.
Na agressiva cintilação do aterroado que se estendia, deserto e silencioso, em direção das grandes baixas, os caminhantes sufocavam, exaustos. O mondongo havia recolhido os seus bichos, as suas vozes para receber aqueles peregrinos que avançavam sobre ele como se lhe fossem restituídos, habitantes que eram das primeiras idades da Terra. Calados como se perdessem a linguagem, à proporção que caminhavam, se despojavam de toda e qualquer aparência humana, recolhendo-se àquele pântano a fim de aguardarem ali a nova gênese.
Para Edmundo esse primeiro encontro com o mondongo, que tanto sonhou e amou como propriedade sua, confirmava apenas a sua desolação sem remédio. A linha do pântano crescia agora com um verde crespo sujando a barra do azul puríssimo que no alto do céu fazia amadurecer bagos enormes de nuvens. A planície se desdobrava, rachada sempre, salpicada de baixas onde o mato trazia ainda a marca lodosa das enchentes.
Edmundo, o rosto avermelhado, suando, caminhava. Quem o visse assim, naquele búfalo, diria que estava pronto, com aquelas armas, a se lançar contra os animais fantásticos que saltariam dos mangues, dos aningais e daquela mata encharcada saindo do horizonte como se boiasse de um mar subterrâneo. Nem uma vez só lhe veio a lembrança da Atlântida. A natureza ali o repelia com um desdém selvagem.
Agitando o descampado, passarões voaram alto, desapareceram no mondongo. O vento começou a soprar, excitado, como para atear mais fogo no sol e tornar mais confusa e sinistra a visão do mondongo.
[270] Lucíola, guardando o “filho” na garupa, via aquilo com uma espécie de terror obscuro, sentindo o perigo iminente nas dificuldades do rosilho que tropeçava nas terroadas, resfolegante. O mondongo protegia-se e ameaçava. Para não intimidar-se até ele, era necessário ter a indiferença de Emiliano tão semelhante à vegetação, ao terroadal, ao desconhecido, filho daquela paisagem. Lucíola arquejava aturdida do sol, o rosto fustigado pelo vento, as nádegas já assadas.
Mas Alfredo tinha a face tranqüila, sem perder um só dos seus instantes naquele descobrimento. Seu olhar refletia a força íntima que lhe comunicava a natureza. Estava só, mas livre, encarando fixamente o mondongo para não esquecê-lo nunca mais. E este submetia-se àquele olhar firme, de um fogo que o grande vento não apagava.
Edmundo apeou. Os companheiros apearam também. Agora reunidos e em silêncio passaram a caminhar a pé. E maior foi a presença de Alfredo diante daquelas forças que ali se condensavam no pântano adormecido sob a vegetação maciça e sombria. Sua pequena sombra de menino projetava-se pelo descampado, infiltrando-se pelas fendas da terra. E o pântano se estendeu até perder-se de vista, monstro que um grande mar ali deixara, encalhado e fumegante.
Edmundo voltou-se para Emiliano e perguntou pelo igarapé da Angélica. O caboclo espichou o beiço indicando um ponto distante que fez desanimar Lucíola.
Montaram novamente e partiram. A Edmundo pareceu que o mondongo agora os cercava, desenrolando-se por todo o círculo do horizonte. Redemoinhos do vento pelo descampado desenhavam esguias e vertiginosas figuras de bichos, soprando poeira.
Quando avistaram o igarapé, Edmundo tentou um galope mas o búfalo recusou-se. Alfredo pediu a Lucíola que conduzisse o boi.
O menino, com as mãos seguras nas rédeas do rosilho, fez-se o senhor do descampado e do mondongo.
Já na margem, Edmundo preparou uma das suas armas contra um jacaré que dormia junto a um tronco à flor da águia rajada.
Atirou.
[271] Os bichos se arrastaram pesados, no balcedo que ciriringou profundamente. Edmundo, então, exclamou:
— Vamos. Não são mais meus. Nada mais e meu.
Alfredo olhou para ele, o rapaz enxugou o rosto e tratava a arma. Emiliano, de cócoras, espiava-o de soslaio.
Antes do regresso, Alfredo quis sondar o que havia no outro lado de um pequeno igarapé que corria paralelo ao da Angélica, estreito e de maré seca, fácil de atravessar.
Cruzou-o em companhia de Edmundo, enquanto Lucíola e Emiliano ficavam com os animais, esperando.
Pouco tempo depois, ao voltarem, tiveram que atravessar o igarapé num ponto mais acima, onde já estavam Emiliano e Lucíola, que puxavam os animais pela corda. Alfredo avançou e se encontrava no meio do leito quando, atrás de si, viu Edmundo retorcendo-se, atolado, com todas as suas roupas de explorador.
Edmundo sentiu o leito ceder, os pés afundavam com perneiras e tudo. A lama ia subindo, atingindo-lhe o dólmã, as armas a tiracolo. O chapéu, preso ao pescoço pela correia, tombara-lhe pelas costas. O sorvedouro o enrolava com seus viscosos e pútridos tentáculos de lama que fedia.
Alfredo vendo-o pálido, tentando atirar fora as armas, abrindo o dólmã, o olhar estranho, como sufocado, um tremor nos cantos da boca manchada de lama, não conteve o riso.
— Não, não ria. Dá-me a mão... disse Edmundo baixo.
Mais fundo que a lama era o terror em que esbugalhava os olhos.
Sem compreender o que se passava e com medo, o menino adiantou-se pelo atoleiro, fugindo para a terra. Edmundo pôde vergar a ponta do pé em algo consistente ao lado e rápido, num impulso, se estirou de comprido na superfície da lama como uma arraia para arrastar-se até a beira.
Ao erguer-se, fétido e negro da cabeça aos pés, as armas entupidas, os cabelos pastosos, a máscara de um afogado, foi que o caboclo Emiliano então se lembrou que aquele igarapé tinha lama gulosa.
Chegaram à noite e quando Edmundo, na manhã seguinte, [272] apareceu na cozinha, Alfredo não ousou olhar para ele. Emiliano conversava muito calmo, falando que haviam corrido grande risco porque atrás do piris e no mondongo moravam os búfalos bravios.
[273]
8
[296]
9
[300]
10
[305]
11
[311]
12
[375]
14




Biblio VT




Situada num teso entre os campos e o rio, a vila de Cachoeira, na ilha de Marajó, vivia de primitiva criação de gado e da pesca, alguma caça, roçadinhos aqui e ali, porcos magros no manival miúdo e cobras no oco dos paus sabrecados. O rio, estreito e raso no verão, transbordando nas grandes chuvas, levava canoas cheias de peixe no gelo e barcos de gado que as lanchas rebocavam ate a foz ou em plena baía marajoara. Na parte mais baixa da vila, uma rua beirando o rio, morava num chalé de quatro janelas o major da Guarda Nacional, Alberto Coimbra, secretário da Intendência Municipal de Cachoeira, adjunto do promotor público da Comarca e conselheiro do Ensino.
A um canto da varanda, nome que se dá no Extremo Norte às salas de jantar, major Alberto, major também de muitas artes, instalara a tipografia. A sua rede de sesta era na pequena sala onde passava horas se embalando, a ler catálogos ou a contemplar as duas estantes de ciência popular em edições portuguesas, gramáticas e dicionários. No bárbaro guarda-louça, ganho na rifa, e atulhando a despensa, Major guardava os poucos instrumentos de sua arte de fogueteiro e fabricante de sabão. Havia um único quarto, cruzado de redes à noite e com um modesto oratório esperando a sempre tão encomendada e nunca chegada imagem de Santa Rita de Cássia, devoção do Major. Via-se, no corredor, o lavatório onde não apenas se lavavam mãos e rostos, mas chapas, rolos, vidros de candeeiro, utensílios, formas de foguetaria e de saboaria.
A um canto da varanda, nome que se dá no Extremo Norte às salas de jantar, major Alberto, major também de muitas artes, instalara a tipografia. A sua rede de sesta era na pequena sala onde passava horas se embalando, a ler catálogos ou a contemplar as duas estantes de ciência popular em edições portuguesas, gramáticas e dicionários. No bárbaro guarda-louça, ganho na rifa, e atulhando a despensa, Major guardava os poucos instrumentos de sua arte de fogueteiro e fabricante de sabão. Havia um único quarto, cruzado de redes à noite e com um modesto oratório esperando a sempre tão encomendada e nunca chegada imagem de Santa Rita de Cássia, devoção do Major. Via-se, no corredor, o lavatório onde não apenas se lavavam mãos e rostos, mas chapas, rolos, vidros de candeeiro, utensílios, formas de foguetaria e de saboaria.
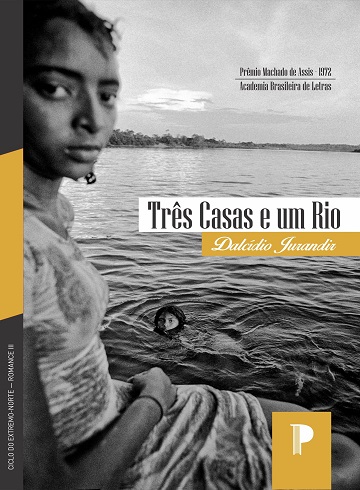
A oficina tipográfica era o prelinho francas e o novo, americano, 12 caixas de tipos, o corta-papel, a mesa de tintas e um [6] pequeno armário muito preferido pelo gato “Gutenberg” que ali cochilava, espiando os ratos na telha vã, rosada de sol. E por todo o chalé, da porta da entrada às tábuas da cozinha, distribuía-se uma quantidade de catálogos que o Major constantemente pedia da Europa e da América do Norte, a respeito de tudo, desde imagens de santos até modelos de ceroulas. Costumava amontoá-los ao pé da rede num eterno folhear e consultar, dizendo a d. Amélia, com malícia e um tom de proprietário do mundo:
— Aí está o progresso inteiro. O engenho e as artes.
Quando, às tardes, vinha d. Amélia, com o cafezinho, major Alberto, num embalo de acaso, punha abaixo o monte alto dos catálogos e exclamava, habitualmente:
— Lá se foi, desabou a civilização.
E apanhava a xícara, em meio daquela civilização no soalho, com o gato ronronando sobre páginas abertas, estampas e ilustrações.
Naquela noite, o Major imprimia rótulos para as garrafas de vinagre de Salu.
Pé no chão, uma haste dos velhos óculos segura por um barbante, manejava o braço do prelinho francês, tentando ao mesmo tempo enrolar, com o desajeito de sempre, os punhos soltos da puída camisa desabotoada e fora da calça de seu antigo uniforme da Guarda Nacional.
— Mas quem teria sido o inventor desta droga... Hei de guilhotinar no corta-papel estes fidalgotes.
Braços abertos, punhos derramados, virou-se, entre sisudo e zombeteiro, para o filho entretido no soalho com a linha de pescar:
— Nesta casa em que tudo some, Senhor da luz e das trevas, sabeis por onde anda a tesoura? Até eu mesmo, um dia, quando eu me procurar, não me acharei mais.
E noutro tom, como já certo da resposta:
— Viste a tesoura, Alfredo?
Então o menino ergueu o olhar surpreendido que logo o pai compreendeu.
— Não disse? Não lhe falava eu, seu Coimbra? Aqui, aqui, nem Santo Antônio de Lisboa.
[7] Preso aos preparativos da pesca noturna, Alfredo nem parecia escutá-lo, tão habituado àquelas buscas do pai pelo chalé. Um pouco apressadamente, sempre à volta com os punhos, quase irritado, o conselheiro de Ensino continuou a imprimir. Por pudor, falta de hábito ou lembrança, não tirava a camisa para se desembaraçar dos punhos, nem se atrevia a levá-los à lâmina da maquininha de cortar papel.
À luz do farol na parede, o prelinho fechava e abria, de rolo reluzente, com a sua pancada tão familiar a Alfredo que ia começar a pesca. Era pelas enchentes de março que ilhavam o chalé e as palhoças naquela rua da beirada, subindo a água um metro e pouco ao pé a casa do Major, de alto soalho de madeira.
Antes de enfiar a linha por uma fenda do soalho, no meio da varanda, o menino colava o olho para espiar, lá embaixo, o que havia e imaginava na enchente escura. Por ali, a princípio, quando chegavam as grandes chuvas, via os sapos saltando na lama, esta e aquela borboleta de misteriosa cor e procedência, o bico esquivo da derradeira galinha aproveitando os últimos minutos do chão há pouco poeirento onde ciscava; depois, peixes na água transparente. Agora, à noite, mais na sua imaginação que na água, passavam ilhas de vaga-lumes e saúvas, restos de ninhos de peixe tamuatá, a cabeça de um jacaré adormecido e um poraquê, o peixe elétrico, que daria o choque, como tanto desejaria o menino, para iluminar por um instante, talvez no rumo do galinheiro ou das palhoças vizinhas, a passagem da cobra sucuriju.
Seguiu-se um silêncio em que o Major renovava a tinta do rolo. O menino espiava: o rio, com efeito, chegara até o soalho, crescendo e em sua escuridão poderia, de súbito e silenciosamente, desaparecer o chalé. Também o rio, pela mesma fenda, espiava o telhado sem forro, a corda de roupa rente da janela fechada que dava para a despensa, aquele alguidar cheio d’água para apanhar as caturras [besouro do campo], a luz do candeeiro na mesa de jantar.
[8] Cheiro de diferentes águas e lodos e peixes e plantas da enchente envolvia o chalé.
Um morcego esvoaçou sobre as caixas de tipos, o armário de papel, o prelo americano, a lata de tinta e fugiu pela janela aberta ara o quintal, defronte do ingazeiro folhudo e carregado das chuvas. O olhar do menino acompanhou-o, cheio de uma vaga fascinação e temor. No soalho macio e preto de acapu, jaziam caroços, carretéis, aparas de papel, a cachorra Minu dormindo, a brancura aos pés do Major ao pé do prelinho. O gato, num banco da mesa de jantar, vez por outra, se interessava pelas caturras que, atraídas pela luz do chalé, vinham dos campos, da larga e solta enchente, para afogar-se no alguidar.
Rio e menino continuavam se espiando.
No quarto da frente, janelas sobre o rio, contíguo à saleta da entrada, d. Amélia e filha ressonavam. Um vento breve fez rumorejar o ingazeiro que embalou um e outro ninho de japiim na ponta dos galhos.
A fenda tinha calculadamente menos de um dedo de comprimento por meio polegar de largura. Alfredo enfiava a linha geralmente com um anzol novo. Por isso mesmo parecia mais perigoso aos dedos e mortal para os peixes. O menino esperava o sinal da isca de carne e pão.
Os minutos tornavam-se lentos como as aranhas que piscavam na parede para a cansada luz do candeeiro, urdindo a teia destinada, por certo, a guardar os sonhos do menino pescador. Passado um tempo, o levíssimo sinal, o débil estremecimento da linha sensível como uma veia e logo um puxão. Que delícia a linha correr, esticar, a água puxar. Gozava, enfim, a crueldade de adiar o golpe na vítima para depois: paf! como que sentia o próprio espanto e dor e agonia do peixinho fisgado. Tinha súbitas piedades, dando tempo: “Te solta, peixe, te livra, seu pateta”. Quando a linha murchava, sem mais sinal de peixe, respirava o menino la boa ação feita, para logo esperar, com divertida malvadez, primeiro que se atrevesse a furtar-lhe a nova isca.
Ao apanhá-lo, como passá-lo pela fenda, mesmo que fosse tão pequeno como um peixe matupiri? Por ali só era possível [9] peixinhos que saltavam reluzentes no soalho. Se Mariinha, dentro de seu camisão, cabelo no rosto, espreitava da porta do quarto, lá corria em socorro, chamando-os de filhinhos, a indagar por que não choravam e cada suas mamães etc.
— Tu já viste peixe chorar, bruxa de camisão? Quem te mandou pegar neles? Já pra rede, pequena acesa.
Mariinha tufava o rosto e injuriava o irmão:
— Seu papudo...
Pois queria levá-los para a rede embrulhados na ponta do camisão, coitadinhos, estavam com frio, arrepiadinhos de medo. Teriam leite pela manhã. E aquele papudo não deixava...
— Papudo!
Aí o irmão dava o grito de alarme: Mamãe! E lá do quarto vinha então sonolentamente a voz de d. Amélia chamando a menina e mandando Alfredo se deitar. Os peixinhos estremeciam no soalho e aos poucos se acomodavam sob o olhar do gato e da Minu, que os ceavam depois.
Alfredo recolheu a linha com excessiva cautela para não fisgar a mão e procurou no corredor entre a varanda e a cozinha o filtro d’água. Ao passar pela porta da cozinha sentiu na escuridão cheiro de lenha verde e de fumaça que lhe trazia a lembrança de Eutanázio, à meia-noite, a destampar panelas, quando voltava da casa de Irene.
Mas a lembrança do morto era logo substituída pela lembrança de Irene. O vulto da moça gravava-se precisamente ao pé do fogão, junto às achas de lenha verde. Na imaginação do menino, Irene vestia-se agora como uma das donzelas encantadas do lago, de que falavam os pescadores, nas madrugadas lentas de tarrafeação e linha n’água. Talvez se preparasse ela para o baile no fundo, onde Clara, a moça afogada no Araquiçaua, também dançaria, com um colar de goiabas maduras no pescoço. Iria ao extremo de sentir muito mais se Irene morresse. Eutanázio era um acabado, e ela — teria visto moça mais bonita? Que diria seu pai se lhe descobrisse tamanhos sentimentos? E a mãe? Por certo não aprovaria. É verdade que, esta, durante alguns anos, de mal com Eutanázio, não trocara uma só palavra com ele. Mas que cuidado, sem lhe [10] dar nunca um “bom dia”, quando o rapaz adoeceu! Eutanázio era irmão, sim, por parte do pai, mas não daquela mãe, de um pretume que a tornava mais amorosa, mais mãe. E Irene passava a fazer parte do chalé, embora nunca ninguém viesse dar uma notícia exata sobre o paradeiro da moça. Uns a teriam visto partir para o Oiapoque ao saber que o autor do seu filho casara em Belém com a filha de um senador federal. Outros atreviam-se a insinuar que mesmo assim vivia em Belém por conta dele ou que era mulher na cidade inteiramente... Alfredo não podia imaginar Irene assim. Quando conversavam no chalé a respeito do assunto, sem cuidarem que ele escutava tudo, fazendo-se muito entretido com os carretéis no soalho, erguia a cabeça um momentinho e interrogava o olhar da mãe. Esta não aprovava nem confirmava nada, era um olhar obscuro que o menino entendia como uma silenciosa solidariedade com aquela desaparecida. O certo é que, um dia, Irene saiu da casa de seu finado avô, com o filho no braço, meteu-se num barco e nunca mais.
Agora, na cozinha, ao pé do fogão lá estava Irene, como o menino a viu no porto quando partia. O olhar escuro, sempre agressivo, a boca malcriada, o silêncio quase escarnecedor daquela resolução de partir. Ninguém da família viera deixá-la. Estava só, com um baú de folha bem machucada, um resto de flores pintadas no meio da tampa. Tudo isso viu ele e outras pessoas no barco quando Irene partia. De pé, à boca do toldo, tinha ao colo o filho adormecido. Alfredo contemplava-a, o olhar crescido como de um homem, coração na mão, com um desejo de dar o braço àquela jovem mãe e partir com ela.
Um medo levou o menino a virar ruidosamente a tramela da porta dos fundos e olhar a noite. Como suspenso no ar, respirou com avidez. Ao pé da escada, a água insinuava-se pelas tábuas que serviam de ponte para o pequeno teso da horta, do banheiro e do poço do quintal. Alfredo quis divisar o distante clarão que muitas vezes se erguia das bandas do nascente, tido, por pessoas da vila, como a luz de Belém. Como aquele clarão o chamava!
Mas apenas Irene, com seu olhar escuro, cobria a noite.
De repente, junto do curral das vacas ao fundo do quintal, [11] rompeu um urro de garrote dentro d’água. Arremetia, assanhado, urrando sempre, contra a porteira fechada. Desfeitas na escuridão, as vacas mantinham-se silenciosas, provavelmente acuadas no pedaço de teso, perto do chiqueiro dos bezerros. O touro chifrava a porteira, com uma ferocidade impotente, urrando tanto que assustava o menino. Depois, na mesma fúria, avançou pelo aguaçal do descampado, a urrar sempre, mais parecendo boi de rio que boi de campo.
E longe morreu o último urro, o derradeiro apelo àquelas vacas presas no curral, como se o animal tivesse submergido. De novo, então, no silêncio, desabrochou, lenta, como saindo de um lago, a imagem de Irene.
Por um instante, Alfredo vexou-se de fazer ali o que queria sobre a escada, imaginando a espuma lá embaixo e a atração dos peixinhos em torno... Com aquela lembrança de Irene, que embaraço! De súbito, caiu um pé grosso de chuva, o guri decidiu-se.
Fazia de conta que era o velho Noé, da Arca, tão falado pelo pai, mijando sobre o dilúvio.
Quando voltou, o pai passava novamente tinta no prato do prelinho, tirava provas, resmungando qualquer coisa de satisfação e de familiaridade com o seu velho e querido Didot. Estava macio, afeiçoado a seu dono aquele prelo comprado em Belém, de segunda mão. Parecia feito pelas próprias mãos do impressor, nascido ali na varanda, peça por peça, criado, educado pelo dono, adivinhando desejos, sonhos, sentimentos do Major. O menino espiava. O pai curvado sobre o prelo, à luz do candeeiro, era uma das estampas vistas em velho jornal, uma pintura. E a sombra do Major crescia pela parede, grande, carinhosamente grande, cobrindo o teto onde os ratos se mexiam.
O impressor olhou o teto por acaso e deu com os ratos que o espiavam. Nesse momento, eles admiravam-lhe a calva semelhante ao pedaço do queijo visto há dias no armário da despensa, um queijo inacessível, que não durou muito, suas emanações correram o telhado.
Apanhados pelo olhar do Major, recolheram-se rapidamente e foram, sem dúvida, combinar uma incursão ousada pelas [12] imediações na despensa. O Major deu o seu pequeno brado habitual:
— Querem aprender as artes, ensino-lhes à vista. Tratantes! Alfredo aproximou-se sorrindo, o pai voltava a imprimir, suando um pouco, traços vermelhos no rosto, a mão direita no braço da Didot, a outra alisando a careca. Durante alguns minutos, pensou na rotativa que namorava no catálogo alemão. Isso era trair a Didot, a faísca da ambição ardendo-lhe um instante, uma rotativa! Por certo que ali estava, maior que a Didot, o prelo novo, vindo diretamente dos Estados Unidos da América do Norte, por ordem do dr. Bezerra, Intendente Municipal, para o lançamento do quinzenário “A Gazetinha”. Mas não lhe inspirava confiança, embora se envaidecesse um pouco de tê-lo, novo em folha no chalé, parado, com composições do jornal à espera que Rodolfo as distribuísse. Imprimia, de uma só vez, para admiração de Alfredo, uma folha de jornal, ou quatro páginas da Prática das Falências, a obra do Juiz de Direito há tempo na tipografia. “A Gazetinha”, por falta de papel, deixara de circular naquele mês. Major, na cozinha, explicava a d. Amélia, interpelava-a:
— Mostra-me os assuntos em Cachoeira para um jornal de quinze em quinze dias. Mostra-me uma notícia. Um acontecimento.
D. Amélia, a favor da circulação regular do quinzenário:
— Grandes coisas — era a sua exclamação desdenhosa —, bem que tem. Rodolfo não traz em penca? Bote a vida da vila no jornal e veja. Mas fale então mal da Intendência, seu secretário. Mostre os podres da política, ora esta!
E ria, como se toda a malícia alvejasse nos dentes perfeitos, e fosse tudo aquilo uma inesperada faceirice de sua parte para fazer o Major, de repente, abraçá-la ali mesmo, ao pé das panelas, ou cheio de irritação, deixá-la em paz.
Major Alberto estava preocupado com o desfecho daquelas últimas eleições. Aguardava a decisão do Tribunal a respeito dos diplomas de deputados eleitos para a renovação do terço da Câmara Estadual e principalmente o do intendente reeleito, o mesmo dr. Bezerra, que havia sido impugnado pela oposição. Falavam ate em cassação, palavra que o Major achava inexata, além de grosseira, ao explicar o assunto na Intendência e no chalé.
[13] Sua permanência em Cachoeira, já de 15 anos, dependia agora da validade daquele diploma. A oposição poderia vencer, anular as eleições, ganhar as novas, agora que contava com o dr. Lustosa, e apossar-se da Intendência. Afinal, refletia o Major, ajeitando o papel no prelinho, era pela autonomia municipal, mas o povo estava cada vez menos livre para escolher os seus administradores. A oposição, soprada agora em Belém pelo dr. Lustosa, crescia à proporção que este advogado comprava terras em Cachoeira, aumentava o prestígio no cartório, aproveitando-se da ruína dos pequenos fazendeiros, das viúvas e das longas ausências do dr. Bezerra.
Olhou os rótulos impressos. “Especial vinagre”. Especial. O Major fez muxoxo: o pior vinagre do mundo. Mas os rótulos estavam nítidos. Rodolfo, o tipógrafo, seu antigo aprendiz, não faria iguais.
O pior vinagre do mundo... Era o diabo uma pessoa, já naquela idade, sem independência, à mercê de uma farsa eleitoral. Não fosse o encargo de duas famílias, a das filhas de Muaná e a dos filhos em Cachoeira, iria criar porcos e plantar mamão no sítio do igarapé Puca, de sociedade com o seu compadre Modesto, embora soubesse que este furtaria pelo resto da vida.
Dr. Bezerra, ganhasse ou não a pendência, continuaria com as suas fazendas, os passeios à Europa. Os correligionários ficassem chupando o dedo. Major compreendia que era, de certo modo, uma peça indispensável àquela engrenagenzinha burocrática, na Intendência. Mas se o dr. Lustosa ganhasse, não o conservaria no cargo. Não perdoaria do Major aquela recusa ao convite de aderir à oposição. “Mas que oposição?”, era a pergunta que fazia ao pé do fogão a d. Amélia.
Teria então de vender a tipografia, fechá-la como a do coronel Bernardo, que se cobria de pó e ferrugem por simples capricho do irmão do falecido?
— Gutenberg é um malfeitor da humanidade. Por isso fechei a tipografia. Não dou nem vendo. Que o cupim roa até o prelo.
Esta era a explicação do dono, em Belém, com os seus charutos, o chapéu do Chile e a sua viagem anual à Suíça. Ainda ao [14] falar da tipografia, repetia um tanto obscuramente:
— E o tipo da responsabilidade sem pecúnia.
Naqueles dias, em que a sua estabilidade de secretario corria riscos, major Alberto tentava fazer pequeno balanço de sua vida. Perdera a melhor parte dela num fundo de gabinete que fedia a morcego e onde um velho retrato de Pedro II parecia lhe dizer:
que é feito de tua República?
Seus ofícios, obtidos graças à sua curiosidade e ao seu espírito de artesão, não lhe tinham sido tão úteis quanto idealizara.
Como fogueteiro, seus fogos e foguetes, encomendados para as festas de dezembro, nunca eram pagos. Corriam por conta de suas funções de secretário, como se deste fosse também o dever de fabricar foguetes. Tipógrafo, compunha, imprimia, dirigia jornais, por ser julgado isso rotina burocrática. Sem falar naqueles subofícios, muito seus, como o de fazer sabão, tintas, encadernar, advogar de graça, ser orador oficial, adjunto do promotor, leitor do Chernoviz para as consultas urgentes. O último, que lhe dava na sociedade o ganha-pão, o de Secretário Municipal, a chamada profissão de confiança, era tão burocrática quanto política e abrangia os demais ofícios.
Confiavam-lhe a redação e impressão das cédulas eleitorais e dos manifestos políticos, das leis e posturas, dos talões, da rubrica do material de expediente, como também dos discursos comemorativos, programas das festas de santo, matérias pagas na imprensa de Belém sobre a “administração clarividente” do dr. Bezerra, boletins, carnes de baile da Intendência, mensagens e termo de quitação de conta do intendente pelo Conselho Municipal. Confiavam-lhe a fabricação de fogos cívicos, a Tesouraria Municipal sem fundos, a interinidade de intendente, não oficial, sem gratificação alguma, porque o interino, o vogal Braulino, era quem recebia; tinha as funções honoríficas de vice-presidente do Conselho de Ensino, a fiscalização da Banda de Música, “A Gazetinha”, enfim, o secretario.
— É demais, é demais, sussurrou o Major, naquele curto balanço de 15 anos de secretário, quem sabe se lisonjeado com tantos encargos. E examinava os rótulos de vinagre. Todas as suas [15] habilidades e conhecimentos eram à conta de seu cargo de secretário. Isso chegou ao extremo de, uma tarde, o encarregado da usina e iluminação pública, então em funcionamento, bater no chalé, dizendo que o dínamo desarranjara e vinha pedir ajuda ao Major.
Major Alberto encarou com surpresa o encarregado. O homem cheio de graxa, esfregava as mãos na velha estopa, certo do socorro. O Major ficou também surpreendido pelo fato de que não podia atendê-lo, ora esta, como se tivesse faltado com o seu dever de secretário. O eletricista lhe fazia rogos, dava-lhe explicações técnicas. Um pouco impaciente e depois galhofeiro, mandando fazer café para o rapaz, confessou que nada sabia de eletricidade. O eletricista olhou, desconfiado, com a suspeita de que o Major se recusava a ajudá-lo — teria alguém para substituí-lo? — e logo assombrado, ao compreender a verdade e a ouvir:
— De eletricidade, sei apenas o que não se sabe bem o que é, meu caro. Cada um arrota os cabedais que possui. Esse, da eletricidade, não me tocou. Espere o intendente. É formado engenheiro eletricista, montou a iluminação elétrica em Manaus. Quando ele voltar da Europa, você consertará o dínamo.
Dr. Bezerra, quando voltava da Europa, insistia com o Major para que fizesse circular o jornalzinho. Major gostava de jornal, mostrando, porém, irritação com aquela insistência.
— Ora, vá fazendo logo o jornal, seu Alberto. Bem que o dr. Bezerra conhece os seus fracos.
Era a opinião de d. Amélia, atravessando a varanda, com o periquito no ombro e uma trouxa de roupa na mão.
Naquela noite, o Major olhava com fastio para as páginas compostas da “A Gazetinha”, ainda não distribuídas. Junto a estas, alinhavam-se os primeiros paquês da Prática das Falências, o segundo livro do Juiz de Direito.
Imprimiu o último rótulo, contou os impressos. Duzentos. Para que duzentos, cochichou, sorrindo, quando o Salu não deveria ter na prateleira dez garrafas de vinagre.
Ralhou com Mariinha que havia acordado e se dirigia descalça e sem atendê-lo para a mesa de jantar.
[16] Alfredo, que desenrolava a linha no soalho, olhou para a ira menina de camisão branco, à luz do candeeiro, apoiara no joelho o rostinho moreno e embebido de sono, os olhos no alguidar onde as caturras se debatiam. Tão silenciosa ficou, que o irmão não ralhou com ela nem tampouco o pai.
Alfredo foi à mesa, decidiu queimar as caturras, como era hábito seu. Levantou o vidro do candeeiro e acendeu a mecha de jornal. Para divertimento e inveja de Mariinha, as caturras torravam no alguidar. O irmão, fora do costume, consentiu que ela enrolasse uma folha de jornal logo molhada, sem pegar fogo. Mariinha impacientou-se. Apanhou outra folha e queimou-a sobre as caturras afogadas. Seus olhos cresceram diante das chamas. O calor animou-a, tinha o rosto iluminado. “Mas esta minha irmã é até bonitinha”, admitiu Alfredo mentalmente. Mas fingiu autoridade e ralhou:
— Não facilita com o fogo, desmiolada.
Major Alberto terminou a sua obra, repetindo com bonomia, a olhar os paquês do livro: Prática das Falências, esse juiz da roça quer ser desembargador, não há dúvida. Desembargador.
Também ele seria um juiz, um desembargador, se pudesse ter feito o curso.
Estas reflexões foram um tanto gratuitas. Muito melhor seria dirigir boa oficina tipográfica em Belém. De vez em quando uma viagem à Europa, para descobrir novidades, não ficaria preso aos catálogos, o mundo em pessoa seria um catálogo vivo que saberia folhear, sem pressa nem ostentações.
Já na saleta, sorriu para o pequeno retrato de Augusto Comte na estante. Tinha a cara dum velho abade, observou como se falasse dum colega. Chamou os filhos para dormir, recolheu-se ao quarto, quase feliz porque trabalhara a seu gosto, esquecera um pouco as preocupações do emprego e da decisão eleitoral. Ao lado do oratório, d. Amélia na rede mostrava o rosto escuro, a mão pendida que o Major recolheu como quem guarda uma flor.
Deitado, pensou no Didot, novamente, no sonho da tipografiazinha em Belém, fazendo rótulos para os Salus do subúrbio. Armara aquela aos poucos, domesticamente, a um canto da [17] varanda, e esquecia com isso o expediente da Secretaria, os misteres de secretário. Repetia sempre ao pé do prelo: “Isto aqui, sim, é trabalhar”. E aproveitando a passagem de d. Amélia para o quarto, apanhava-lhe o braço, detendo-a:
— Ora, Amélia, tivesse eu de escolher entre a forja e aquela papelada da secretaria, acreditas que eu hesitaria?
— Uai e você não está na papelada? Ora, seu Alberto, já não está mais em idade de ser pávulo, não me venha fantasiado de ferreiro, inda mais esta.
Major sorria, tentando explicar-lhe o seu gosto pelo trabalho manual, sem persuadi-la.
Voltou a chamar os meninos, sentiu-se fatigado e logo um cochilo misturou cismas, sentimentos, sonhos, o cuidado com os filhos e estes ficaram sós na varanda.
Alfredo fisgara um peixe, talvez sardinha, que bateu de encontro ao soalho. Teimosamente, ao querer ver o peixe passar pelo buraquinho partia-lhe a cabeça, rogando pragas. Afinal rompe-se a linha, o anzol perdido...
Enfiava agora a linha, sem anzol, com um miolo de pão amarrado na ponta e sentia-se puxado de cima para o rio que o espreitava lá de baixo. A linha comprida ia embora, fugia pelo quintal. Na imaginação de Alfredo, corria pelas marés, redemoinhos e lagos, levada por um peixe ou visagem de criança apanhada pelos sucurijus. Não seriam aquelas crianças da rua de baixo, agora anjos não do céu, mas do fundo, que disputavam com os peixes as sobras de comida e as linhas atiradas das janelas do promotor público, do Salu, da Lucíola, do chalé? Quando vivas, pediam restos de jantar, o olho comprido para o pires de farinha esquecido na ponta da mesa, a casquinha de pão jogada no soalho, o osso, com algum nervo e carne, que a Minu roía.
Puxava a linha sem a isca, acariciando-a entre os dedos, linha molhada em tão diferentes zonas de inundação e perigo, leria roçado as cordas do violino no baile de Clara e naqueles redondos mururés vermelhos em que as moças são levadas do jirau pelos botos?
De ordinário, o peixe apenas beliscava a isca, tão de leve, e [18] assim ficavam, Alfredo e o desconhecido, num colóquio, como se combinassem sonhos e aventuras ou cada qual falasse de sua vida, do que via e acontecia em seus mundos. Durante alguns minutos, que para eles tinham a duração de graves confidências, a linha transmitia essa conversação entre o menino e o peixe. Depois, silêncio, universal silêncio. A linha sossegava lá no fundo, e tudo embaixo eram trevas, solidão, talvez a boca de um peixe enorme que engolia o pequenino confidente.
De repente o grito de Mariinha saltando na direção do quarto, entre as chamas do velho camisão que pegara fogo nos papéis do alguidar. Tão rápido foi tudo — o pai arranca o camisão, pisa o resto das chamas no soalho, a mãe carregando a filha, como se levasse a menina morta — que Alfredo sumiu no chão, desatinado, com a Minu a lamber-lhe a mão que tremia.
Naquelas semanas, Alfredo abandonou a pescaria, a construção de barquinhos de papel que soltava da janela, as velhas buscas sem motivo pelas estantes, embaixo das malas e do armário da despensa à procura de um carocinho perdido ou de acaso. Também esquecera os carretéis que lhe recordavam rodas dos carros da cidade, viajando para a praia ou montanha onde deveria estar o colégio tantas e tantas vezes desejado e pedido.
Tentava acalmar-se, indagando da irmã se o óleo da nhá Porcina e os remédios do seu Ribeiro faziam efeito.
Sobretudo pensava numa essência de tajás, de mel e bênçãos Ie Nossa Senhora, banha de algum peixe misterioso, óleo de misteriosa árvore, para curar, de súbito, aquelas queimaduras que a ele doíam mais que na própria irmã.
Sob o crescente sentimento de culpa, seu temor aumentara. Ajoelhado ao pé da rede, num tom de lástima de si mesmo de contrição, repetia:
— Ninguém brinca mais com fogo, sim maninha? Ninguém brinca mais.
Calava-se alisando demoradamente a beira da rede, como se usasse a mão da irmã, e ficava atento aos curativos que a mãe [19] vinha fazer com tanta segurança e silêncio.
Tinha os olhos cheios de todas aquelas pessoas grandes que, em torno da doente, discutiam o maior ou menor grau das queimaduras. E isso até certo ponto o irritava. D. Amélia tentava ocultar à curiosidade dos vizinhos aquelas feridas tão vivas ainda. Mas era impossível. Muitos, que moravam longe, juravam ter escutado os gritos de Mariinha. Alguém viu o Alfredo sair de farol na mão, pela ponte, a caminho da vila, em busca de seu Ribeiro. O menino não se conteve e disse ali mesmo no queixo da senhora que falou:
— E uma pura mentira!
D. Amélia punha a mão na cabeça. Que menino, mas também que mulher essa minha comadre Marcionila! Alfredo não queria que a irmã fosse exposta àquela tagarelice, àquela fiscalização de todo o dia.
Parecia-lhe, na verdade, de mau agouro que, dentro de uma casa atolada no aguaçal, fosse possível um incêndio, tão possível quanto o risco de uma enchente cobrindo o chalé. Aqueles papéis se queimando no alguidar poderiam reduzir a carvão e fumo o corpinho da irmã, a cabeça branca, a pele tão alva do pai e os olhos da mãe. O detalhe dos olhos brotou-lhe do pensamento com obstinada nitidez. Nunca lhe pareceram tão indefinidos quando sua mãe olhava as queimaduras de Mariinha, eram como bolhas numa água funda.
Sozinho à janela, andando pela saleta, mergulhando na rede, com as barbas do gato roçando-lhe o pé, murmurava consigo: “Não brinco mais com fogo, não brinco” e sentia tão necessária a sua punição, que desatava em soluços. Até mesmo o major Alberto, sempre distraído e omisso em expansões de família, se impressionara com a pungente ternura do filho em torno da irmã, a tristeza em que se recolhia pelos cantos do chalé, perseguido pela visão da irmã pulando, como uma labareda, da mesa para a porta do quarto. O menino exagerava os riscos do fogo e da água, fogo e água conspiravam contra o chalé. Chuvas e chamas inundavam-no de desespero e solidão.
Voltava para o quarto:
— Mana, a culpa foi minha. Ninguém brinca mais.
[20] Ao cabo de instantes, a culpa recaía sobre as caturras, o inverno, as janelas abertas, sobre aquela viscosa hostilidade da lama, dos insetos e dos vermes em torno do chalé.
— Mas tu achas que a culpa foi só minha?
A irmã arredondava os olhos para ele. O seu pavor desaparecera como as dores. A culpa? Era uma confusa indagação dela. A culpa? Talvez fosse ele o (mico culpado. Quem primeiro queimara papel? Quem inventou, não foi Alfredo? Vinha-lhe um miúdo ressentimento por isso. Queimara-se porque ele não a livrou a tempo, malinando com ela para que se espantasse e saltasse de cima da mesa com um rabo de fogo atrás. Ou era vingança das caturras? A menina hesitava.
— Hein, Mariinha, fui eu?
Ela abanou a cabeça: foi.
— Eu? Minha? Como? Fala, Mariinha.
Ela, por capricho, abanou sucessivamente a cabeça, confirmando: Era, pronto, estava acabado. Alfredo viu-lhe os redondos olhos escuríssimos de acusação.
— Mas ninguém então vai brincar mais, Ouviu?
Desta vez, Mariinha fez com a cabeça que não.
— Ninguém brinca? Perdeu a língua?
E ela com os mesmos olhos fixos:
— Brinco, pronto.
Ficaram em silêncio. Ele alisava a rede, insinuou a mão pelo bracinho dela. Mariinha permitiu. Agradava-lhe aquela cara de culpado do irmão que a tratava com uns úmidos, tristes afagos e pesarosas palavras, servindo-a como um molequinho xerimbabo. Que mudança! Dias antes eram da parte do irmão aqueles gritos e ralhos, e arremedos e escasseando as coisas. Sentia-se agora muito acima dele, livre de toda a punição, explorando ao máximo as atenções de que era alvo. Ao mesmo tempo, vagarosamente orgulhosa por ter atravessado aquele perigo, embora receasse, por alguns minutos, que as feridas poderiam reabrir e maiores, cobrindo-lhe o corpo inteiro. Diante do irmão, seu dengo aumentara, sem palavras, feito de silenciosos amuos e contradições. Fazia-se cara pelo silêncio.
[21] Bastava que ele a contemplasse, como se quisesse que ela o absolvesse das culpas, Mariinha virava o rosto ou escondia a cabeça no lençol. Resmungava que fosse embora para logo chamá-lo, irritada, e intimar que lhe contasse dos peixes fisgados ou vistos da janela, se fizera .barquinhos, se ouvira ronco de jacaré à noite, embaixo da casa. Alfredo não via explicação alguma para aquelas mudanças da irmã, mas achava uma felicidade imensa nos minutos em que podia contar os peixes boiando na água transparente. Inventava aruanás e apaiaris grandes rabeando, vistosos, à frente dos barquinhos de miritis, perguntando por ela. Quanto a jacaré, não. Nem do velho jacaré conhecido dos dois, visitante certo quando chegavam as grandes chuvas, segundo suposição deles. Não queria meter medo na irmã. Não ouvira ronco nenhum. Mariinha ai mentia:
— Pois eu ouvi. Um ronco assim...
Erguia a cabeça na rede, tufava a boca para imitar o ronco do jacaré. E logo recordava as malinezas que o irmão lhe fazia, beliscões, pisadas, a vez em que ela pediu tanto aquele pedaço de pudim e ele: “Então fecha primeiro os olhos, que te dou na boca”. Ela fechou os olhos, para ver depois o irmão engolindo todo o pudim, mas inteiro, de uma bocada só. Quem disse que Mariinha queria parar de chorar, agatanhando o irmão?
Agora, lhe atirava tudo isso na cara, e Alfredo ouvia de olhos baixos. Saía do quarto, como expulso, mas satisfeito porque a irmã sarava.
Uma tarde, entrou sozinho no quarto, curvou-se sobre a irmã que dormia. Teria ela aumentado de tamanho? O rosto menos moreno adquiria feições de moça, e que força de vida naquele dormir tão sossegado. Perturbado, afoito, curvou-se ainda mais sobre a rede e roçou de leve os lábios na testa da irmã, tão de leve que ela não se moveu, não piscou, nem uma linha do rosto se mexeu. Teve um impulso de abrir-lhe os olhos, surpreendê-los no sono. A boca entreaberta, pequenina e tranqüila, não era a mesma que soltara de noite aqueles gritos. Estava como se nunca tivesse proferido palavras e esperasse o instante em que pela primeira vez, teria de as proferir. De leve lhe tocou neste e naquele fio de [22] cabelo. A mosca que voou e tentou pousar no braço da irmã provocou-lhe um gesto de raiva. Por pouco não acordava a menina. E ali ficou, como se desejasse fundir-se naquele sono para melhor ter a certeza de que a irmã sarava e por muitos e muitos anos, viveria. Por que a mãe não aproveitava para furar-lhe as orelhas, pôr-lhe os brincos?
Mas sua inquietação não se apagou. Sob o camisão branco, cobertas de folhas verdes, estavam as queimaduras que ele viu em carne viva, feias como se o fogo tivesse queimado o coração da menina. E voltava a ouvir os gritos da irmã e a ver, grandes, negros e infalíveis, os braços da mãe erguendo a filha salva do camisão em chamas que o pai arrancara e pisara. Deitou-se na esteira, pegando-se secretamente com Nossa Senhora para que lhe desse absolvição ou lhe tirasse qualquer responsabilidade por aquilo. Adormeceu com o sussurro das moscas no calor, enquanto as osgas, na parede, escancarando o olho ávido, tornavam-se descomunais.
Acordou a ouvir a mãe cantando na cozinha. Era uma cantiga tão natural e vagarosa, saindo pelas janelas, que fazia parte daquela calma de sol e nuvens, pontas de telhados, sono de Mariinha, água ladrilhando o campo.
Ouvindo a cantiga, major Alberto, na saleta, ao fim da sesta, pôs-se a pensar na filha cega em Muaná e voltou ao problema da Secretaria Municipal, aos termos do seu pedido de demissão caso o Tribunal decidisse a favor do grupo oposicionista. Despachassem logo, sim ou não, pois necessitava tratar de seguir para o sítio a criar galinhas e ouvir os bodes do compadre Modesto. Lá pelas tantas soltaria um fogo de vista sobre os aningais e mangues para uma festa de santo. Era uma resolução no ar, tão inconsistente que logo procurava pensar: E em que lugar da Suíça, em que hospital alemão, em que sumidade da Europa estaria a possibilidade de examinar com esperança os olhos da filha?
D. Amélia cantava a velha cantiga em que o Major se embalou com aquela súbita e inútil indagação.
Na janela, encheu os olhos na intensa claridade. Coisas, [23] bichos, rumores faiscavam. Talvez pela expectativa em que estava, a lembrança da filha cega perseguia-o. A escuridão que sentia nos olhos de Marialva estendeu-se no fundo de seu ser, fria e densa. Era a bonita daquelas três filhas do matrimônio, a sem juízo, a corrupio da casa e adjacências. Agora, em Muaná, tateava pelo quarto, como uma sombra fina e alva, desfiando o longo e liso cabelo solto.
Durante alguns minutos ficou o Major, de costas para o campo, com o mormaço que vinha das águas quentes, os olhos sobre a distante filha cega, revendo-lhe a infância. Era quando a risada da menina no quintal parecia despencar as goiabas e abrir de maduros os frutos do cacaueiro. Teve um calafrio ao pensar que a outra filha, a Mariinha, queimada de fogo, poderia ficar cega também.
Como visse maior tristeza no filho que acordara e o surpreendera na saleta, chamou-o. Fora de seus hábitos, mandou-o buscar o Chernoviz na mala e explicou-lhe que as queimaduras de Mariinha não eram graves.
— De primeiro grau, ouviu? Não foi nada.
Quis acrescentar: não brinque mais com fogo. Deixe as caturras em paz. Limitou-se a mostrar-lhe algumas gravuras sobre micróbios, nomes de doenças. Alfredo repentinamente desejou perguntar:
— E como nasceu o fogo?
Sempre reservado com o pai, permaneceu calado. O pai teria de falar na Bíblia, de seu Deus, o que o encheria de um vago terror e nada mais. Levou o Chernoviz para o quarto, notou que as telhas avermelhadas, sob o sol da tarde, tinham um ar zombeteiro como se lhe quisessem dizer: “Vamos contar que te vimos beijar a testa de Mariinha”. A ponta da cauda de um rato riscou a vermelhidão do teto.
Viu-se só naquele fim de tarde com as suas invisíveis queimaduras doendo.
Mariinha pôs-se a chorar porque o café com bolachas demorava. Não queria café e sim chá. Alfredo ficou espiando-a da [24] porta do quarto e rogou que não se mexesse muito, podia magoar as feridas.
— Mariinha cobre as queimaduras. Olha as moscas. Apanhou de cima da mala grande um vestido da mãe, foi espantando as moscas, a irmã batia os pés na rede: queria porque queria as moscas ali e reclamava chá.
Retirou os panos e as folhas das feridas, levantou-se chorando com o camisão curto. Como Alfredo tentasse segurá-la, deu um grito:
— Mamãe, ele bateu na queimadura, bateu...
Major Alberto acudiu. Alfredo recuou a um canto, o dedo na boca, a irmã acusava-o, enxugando as lágrimas na ponta do camisão.
— Eu quero chá-da-índia, eu quero...
— Alfredo, disse o Major, dá um pulo ali em Calcutá, e traga... Sabe onde é Calcutá?
Alfredo saiu correndo para Calcutá que era na letra C do Dicionário Prático Ilustrado. No quarto a menina se calava. Calcutá. O menino correu para a cozinha, foi perguntar à mãe se podia procurar chá-da-índia por todas as tabernas e portas de conhecidos.
Conseguiu-o, depois de bater em tantas casas, com as Avelares que lhe arranjaram um pouquinho de nada, só para uma xícara.
Mas ao vê-lo tão alegre, com a pitada do chá, Mariinha deu-lhe as costas:
— Pois agora não quero mais. Não quero, pronto, pronto!
E entrou a chorar alto, chamando a mãe, porque o irmão, num gesto brabo, lançara o chá ao chão, pisando-o e fugiu.
Com a fadiga, a raiva de Alfredo abrandou, mais tarde convertida em arrependimento e medo ao ouvir lá dentro um breve soluço da irmã e um silêncio, como se as queimaduras dela abrissem novamente.
Tudo fazia para que a irmã sarasse. E disso se aproveitava ela para exigir as doidices que lhe vinham na cabeça. A todo instante caprichosa, não o deixava sossegado.
Perdiam horas, ocupados em olhar uma flor que aparecia [25] boiando ao pé da escada, como se tivesse nascido ali mesmo da própria espuma d’água; a jacinta de asinhas brilhantes, um vaga-lume perdido num talo de capim que tentaram recolher numa caixa de fósforo para acender à noite, ao que se opôs Mariinha: o vaga-lume podia atear fogo na casa; a gota de chuva caminhando na folha de ingá, como se pudesse, num segundo, transformar-se em borboleta. Com um canudo de mamoeiro, sopravam bolhas da cuia cheia de espuma de sabão. Mariinha desejou, então, que delas se fizesse um colar.
Na escada da frente, pés no degrau que a enchente lambia, viam o vento fazer cócega n’água que encrespava, sorrindo. No faz de conta de Alfredo, eram ondas, vagalhões do mar nunca visto. Ali estavam muitos mares e muitas matas submersas. Transatlânticos e boiúnas circulavam nas profundidades e correntezas daquela água rasa, quieta e transparente. Quando banhava o rosto suado, sentia o sal do mar que nunca provara. Maior era o seu divertimento quando Mariinha mergulhava o rosto para mostra-lo ao sol, coberto de arco-íris. Uma e outra vez passava, lá pelo fundo ou rente do degrau, um jeju lento. E aí então voltava a água às suas proporções reais. O jeju valia, apesar de sua vulgaridade e imundície como peixe, mais do que todos os mares e bichos e navios imaginários. Ali estava um habitante típico da inundação, vejam o olhar, o rabo, como volteia amorosamente entre os mururés, como espia para cima e bóia e desce e vem, circula e some, sutilmente, sem um borbulho, no seu silêncio de peixe, com um tênue movimento da água menos que um estremecimento. Alfredo ficava, depois, mirando-se naquele espelho, sentia-se um outro naquela sombra sua movendo-se, a dissolver-se na extensão e intimidades da enchente.
Destruíam, com vagar e delícia, os velhos catálogos na saleta e longo tempo ficavam admirando a figura vermelha do corpo humano, descoberto num livro grande do pai. Mas erguiam-se batendo palmas, dando adeus, quando passavam os passarões por cima do chalé num bando escuro e lento. Divertiam-se com o vento a embalar no ingazeiro os ninhos de japiins suspensos nos galhos, fazendo “dormir os filhotes” entre a algazarra dos periquitos. [26] Certos movimentos da água no sol gordo lembravam centopéias, embuás, as sanguessugas. E ficavam horas, esperando o habitual visitante das enchentes de março, o velho jacaré. D. Amélia falava nele desde muito tempo: havia roncado noites sucessivas bem embaixo do quarto. Todos os anos, subia o Arari, vindo dos lagos ou dos igapós, pesado, ao gosto da correnteza, deliciando-se com as águas vivas, largado nas canaranas, tão dorminhoco quanto manhoso. E entrava pela vala defronte do chalé, arrastava-se pelo quintal inundado e ia roncar lá pelo meio da noite, quando d. Amélia suspendia a costura e ficava à escuta de todo ruído e movimento da enchente.
De tal forma o jacaré se tornou familiar, que havia recomendações da parte de Alfredo: não matá-lo se fosse avistado, não espantar o bicho. Talvez um dia viesse até o primeiro degrau da escada da cozinha, comer na mão de d. Amélia. Talvez Mariinha acabasse montando nele, viajando pelos campos entre os mururés. Os meninos, à noite, ficavam na janela ou à porta da cozinha, à espera do velho visitante.
— Ei, jacaré, onde estás? Tu não vieste?
E Alfredo, para impressionar a irmã, exclamava:
— Conta aquela história que tu me contaste no ano passado, jacaré. E imitava: uum, uum...
Depois, um caboclinho contou-lhes que o jacaré estava cego. Tinha sido visto numa baixa, se esquentando ao sol, mas num sono... E os dois meninos seguiam os rumos do velho cego pelas águas, até que fosse encalhar numa beirada, laçado pelos pescadores.
Mariinha então queria o couro do velho jacaré.
Alfredo prometeu trazê-lo, o couro bem macio, estendido na varanda, para os brinquedos e o sono de Mariinha, ela por isso, ficou criando mais bem ao jacaré.
Uma noite — já estavam os dois recolhidos às suas redes — subiu das águas, bem embaixo da saleta, um ronco breve, mas bastante para fazer levantar o Major, d. Amélia e os meninos. Major Alberto não sabia atirar. D. Amélia tinha na despensa uma velha espingarda sem munição. E o que fazia era bater no soalho, espantando o bicho, mesmo porque Alfredo estava certo de que [27] era o cego em busca de um sossego embaixo de casa para passar o resto da noite.
Mas o medo dominou os meninos. Alfredo se enrolou na rede. E vamos que o cego suba a escada, force a porta e entre chalé? Era uma suposição de Mariinha. Pediu à mãe que fechasse o quarto a chave. Começou a chorar.
— Mamãe, reze, mamãe, reze.
D. Amélia estava era com pena de não ter munição. O jacaré como entendendo o alvoroço lá em cima, calara-se. Major Alberto batia os pés no soalho. Alfredo insinuou.
— Quem sabe se não e uma pessoa encantada, hein?
Major Alberto abanou a cabeça e d. Amélia, pouco afeita aos encantamentos, logo ralhou com o filho: que tirasse as abusões da cabeça. Ele tinha pegado o vício de Lucíola que lhe andava sempre contando fantasias.
Sem dormir com aquele hóspede embaixo do chalé, os dois irmãos faziam perguntas. Estaria dormindo? Teria partido?
Quando os galos cantaram, ruídos de embarcações no rio cresceram, d. Amélia saiu para a cozinha e tudo clareou, Alfredo, mais que depressa, foi espiar pela escada: nem um vestígio do cego. A água embaixo estava lisa, sem jeito de jacaré ter dormido nela, e pelos campos vinha a manhã fluvial, cheirando a peixe, com o reflexo dos charcos e das lagunas na claridade úmida e riscada de asas que passavam pelo chalé.
Mal saíram juntos pela ponte até o aterro, Mariinha quis ir taberna do Salu. Era ao fim da tarde, depois da chuva, o céu baixo e de um azul molhado parecia entrar pelas casas. Os meninos gostavam de sentar e deitar nos bancos lisos-lisos do trapiche sobre o rio, vendo os caboclos descarregarem mercadorias do barco, este e aquele pescador lançar a tarrafa ou puxar a linha de anzóis com isca de pitomba para os tambaquis. Alfredo admirava os carregadores vergados ao peso de sacos e caixas pisando o trapiche. Que força, que leveza quando pisavam, a carga ao ombro ou na cabeça, rápidos, ágeis, os peitos suados, a naturalidade em todos os movimentos, até mesmo um orgulho no que faziam.
Mariinha perguntou:
[28] — Que carregam?
Alfredo resumiu-se a responder com instintivo respeito:
— Trabalham.
A irmã descobriu no balcão do Salu o vidro de aumento que servia de peso ao papel de embrulho e correu para Alfredo:
— Quero aquele vidro.
Alfredo aproveitou a ausência do Salu, que fora encher uma garrafa de querosene no quartinho dos fundos e os dois saíram levando o vidro de aumento.
Grande foi o divertimento quando viram no vidro como era disforme a cara deles, a do pai, a cachorrinha Minu, o rio. A noite, porém, Alfredo fugiu para levar de volta o objeto furtado. Entrou na venda, colocou-o sobre o papel de embrulho. Salu, no trapiche, acolhia alegremente a chegada de Luiz Piranha trazendo da pescaria um belo pirarucu.
Alfredo voltou gritando que tinha pirarucu fresco no Salu. Major apeteceu um cozido.
D. Amélia trouxe para o jantar, servido fora da hora habitual, a travessa de barro cheia de alvas postas do peixe cozido na água, sal, alfavaca e chicória. Seguiu-se um prato fundo com o pirarucu frito, de um dourado e um cheiro que fizeram major Alberto, silencioso, jantar quase solenemente. Mariinha lambia os dedos. E o caldo do cozido se repetiu três vezes com farinha d’água e bem limão, fazendo-se notar o forte cheiro de pimenta-malagueta no prato de Amélia, o que provocou do Major a velha observação:
— Isso não e mais caldo de peixe, Amélia, é caldo de pimenta, criatura.
Com efeito, d. Amélia desafiava os de casa e a vizinhança com a quantidade de pimenta-de-cheiro e malagueta que amassava na sua comida. Alfredo não se conteve, foi cheirar a boca da mãe para saber se “saía fogo”.
— Mas, mamãe, chega, está pegando fogo!
Ao fim do jantar, caiu a chuva. Os dois irmãos ficaram a um canto, sem brinquedo nem fantasias. Finalmente, na hora do sono, Alfredo não fugiu à tentação de inventar: segredou a Mariinha que o fantasma do velho Noé, de que falava o pai, vinha sentar [27] no grande urinol no quarto, à espera que a chuva estiasse para ir beber no Salu. Mas esta Mariinha não acreditou, embrulhando se no lençol, com um medo e calafrios quando escutou, por cima do telhado, atravessando a chuva, o grito das marrecas.
E que correrias da menina no chalé quando o Major, no dia seguinte, trouxe da Intendência, a “caixa do cinema”.
Mal anoiteceu, na varanda fechada e escura, começou a projeção. Alfredo viajava naqueles vidros coloridos, vestindo trajes estranhos, no Tirol ou na Índia, ora num trem, ora montando num urso na neve. Depois, uma casa alta, de telhado em bico, em meio de um bosque, com uns meninos na relva. A Alfredo pareceu um colégio, o seu colégio. As estampas sucediam-se, uma a uma, fixas, pedaços de países e de felicidades. Alfredo sofria quando o palhaço, de chapéu estendido, com a legenda escrita good night despedia-se, fechando-lhe as portas do mundo. Foi uma noite dedicada ao colégio, aquela noite depois do “cinema”. Alfredo embalava-se, embalava-se. Não resistiu e foi, pé ante pé, tocar na rede da mãe. E deu, surpreendido, com ela acordada, os olhos tão abertos na escuridão, que brilhavam.
— Que foi, meu filho?
Ele lhe queria perguntar, mas desta vez sem nenhum azedume: quando vou pro colégio, mamãe. Por intuição ou pressentimento de menino, julgou que a mãe estava precisamente pensando a mesma coisa, por isso estava acordada ainda, preocupada com aquilo que tanto desejava fazer pelo filho.
— Hein, Alfredo, por que não vais deitar?
— Nada. A senhora não ouviu um ronco?
— Ora, meu filho, grandes coisas! Foi um ronco do teu pai.
O menino voltou, escutando o riso da mãe e isso lhe doeu vivamente. Sentiu que deveria gritar lá da saleta. “Vocês não se incomodam comigo, não querem que eu estude, não me mandam para Belém, pois eu fujo, me meto num bote...”
Começou a chorar, enxugando os olhos na ponta do lençol Ao mesmo tempo, sentia a falta de Mariinha, se partisse. Mal saradas ainda estavam as queimaduras da irmã.
E foi quando sentiu passos da mãe em direção da sua rede. [30] Embrulhou-se e fez que dormia. A mãe debruçou-se, apalpou-lhe o pulso, ajeitou o lençol, murmurou um ralho um tanto carinhoso quando observou que os pés dele estavam sujos e isso foi como o próprio sono tomando conta do menino.
Passavam a girar em torno da maquininha de cortar papel, trazida da América do Norte, encomenda do dr. Bezerra. “Uma perfeita guilhotina”, afirmava o Major, que logo se lembrava da “outra de Paris que cortava a cabeça dos fidalgos”. Então, degolando papéis e papelão, Alfredo, por sentença de Mariinha, executava reis e damas das velhas cartas de baralho, modelos de figurino e o intendente Bezerra numa fotografia de jornal.
Uma tarde, os dois meninos viram encostando na escada do chalé aquela embarcação de toldo onde, com um verde emplasto no peito, gemia uma mulher. O piloto, tapuio de rosto descascado, chapéu de carnaúba de riscos brancos descido ao peito, saudava o Major. E cheirando com tal intensidade, invadindo o chalé, cupuaçus maduros enchiam a embarcação. Na proa, entre os cupuaçus, paneiros de plantas, feixes de ingá, cachos de pitombas, debatia-se um maracajá peiado. A embarcação viera, naquela tarde morna em que as águas fumegavam, como um pedaço macio e resinoso da floresta. Uns cacaus amarelinhos apontavam no fundo da canoa, cupuaçus, pardos e grandes, rachavam ao sol. Neles, naquelas polpas de ouro, Alfredo viu, por súbita lembrança, o rosto de Clara, gulosa de frutas — gostava tanto de vinho de cupuaçu.
O tapuio consultou o Major a respeito da mulher que gemia sob o toldo. Major manuseou o Chernoviz, incerto e silencioso.
Alguns cupuaçus foram levados à cozinha. D. Amélia ganhou uma vassoura de piaçava. Mariinha andou chupando bagos de cacau e Alfredo trincou uma pitomba, seu azedor dava arrepios. E o pedaço da floresta continuou a viagem, ganhando o rio, para chegar lá pela madrugada na barraca de velha Ana do Japiim, pajé das beiradas do Arari.
Logo outros dias se encheram com as idas de d. Amélia à barraca de sua comadre Porcina. Ia acudir um menino de olho pedrado, um bichinho amarelo, regado a banhas e óleos, fedendo a ervas, convulso. Nhá Porcina, mãe tapuia de caboclinhos [31] pescadores, muito prenha, via naquela senhora preta e limpa a salvação do curumim. Levara-lhe, por paga, um pau cheinho de turus que d. Amélia comeu num grosso molho de pimenta e limão, lambendo os dedos — era doida por turus, que o Major e Alfredo repeliam enojados, por ser bicho que vive nos paus podres. D. Amélia retrucava que comidos crus eram santo remédio para os fracos do peito.
Mas uma noite, sob o aguaceiro, bateram no chalé.
Major Alberto bradou contra aquele “absurdo”, “aquela ignorância”, era demais. Mandassem buscar a Amélia, vá lá, fosse a hora que fosse, já estava estabelecido que ela era a “Pronto Socorro” da rua de baixo, “a Santa Casa de Misericórdia ambulante”, mas trazer debaixo de semelhante dilúvio aquele desgraçadinho até ao chalé — era demais!
Com efeito, a nhá Porcina, com o filho agonizante enrolado numa velha e suja colcha de retalhos, vinha pedir à comadre que “salvasse o seu afilhado”. D. Amélia, com o candeeiro sobre a escada, tentando ao mesmo tempo fazer recuar para dentro os filhos curiosos, balançou a cabeça, sem uma palavra. Cobriu-se com saco de lona e entrou na montaria. Como não havia mais salvação, que o seu afilhado expirasse onde nascera.
Na tolda, enquanto o filho mais velho, de doze anos e nu, empurrava a montaria a vara, nhá Porcina sentiu a primeira dor do parto e estava imensa como a chuva que caía. Quando chegaram à barraca, d. Amélia pisando o jirau, já com o defuntinho no braço, sob a chuva, mandou de volta a montaria para buscar nhá Bernarda, a fim de pegar a tempo a criança que ia nascer.
Meia hora depois, mais que de repente, a chuva parou. Batia no chalé um caboclinho de 15 anos, trazendo recado de d. Amélia ao Major. Mandasse as velas que tinha no oratório, a alfazema guardada na mala grande e bilhete ao Salu para aviar não só café e querosene como também morim para forrar o caixãozinbo e fazer os cueiros.
Major suspendeu a composição da Prática das Falências e coçou a ilharga noutra impaciência brusca.
— Mas a conta do Salu vai enorme. O patife me explora me [32] fazendo encomendas de rótulos. Amélia é uma insensata.
Abriu o oratório, espiando os santos, assustados com tão repentina aparição, homem que lhes parecia só ter afeição por Santa Rita de Cássia e lia aqueles ateus acumulados na estante. Com as velas na mão, resmungando, acompanhado dos filhos, o Major remexeu ruidosamente o fundo da mala grande, atrás do embrulho de alfazema. Não estava. Alfredo encontrou-o na almofada de rendas.
— Tua mãe é uma insensata. Procura um lápis para a nota. Aqui é a casa do procura. Nem um lápis. Nem a caneta. Casa de ferreiro, espeto de pau. E quanto de café? E querosene? E que quantidade de morim?
Danilo, o caboclinho mensageiro, respondeu:
— Que dê para o anjo e o pagão.
— Pagão, anjo, que pagão?
— Mas a criança que nasceu, papai, explicou Alfredo.
E foi encontrada uma ponta de lápis com que o Major escreveu a ordem ao Salu.
Danilo ia desamarrar a montaria quando os dois meninos pularam no banco, logo aí sentadinhos como dois passageiros. Queriam porque queriam ver o menino morto e o recém-nascido.
Danilo disse que não.
— Então passear, propôs Mariinha.
— Pois bem, passear, mas vou primeiro no Salu. Vocês ficam me esperando.
D. Amélia passaria a noite no velório do anjo e ao pé da parturiente.
Era uma de lua, com os sapos nos tesos, as águas subiam. Mariinha queria ver as fazendas enterradas no sem fim, ver Maritambalo, tudo que Danilo, empurrando a montaria a vara, atiçava na imaginação dos meninos.
Os matos se cobriam de um fantástico negrume, uma nuvem, com a forma de um peixe, engolia a lua tão vermelha como uma isca de carne. Depois, faróis nesta e naquela embarcação que passava, o bater ligeiro de um pilão na palhoça, o jirau, alumiado por lamparinas dentro dos paneiros onde se escamavam e [33] salgavam aracus, o susto das marrecas diante das vacas que mugiam. Alfredo e Mariinha miravam-se na água agitada, cheia de luar, os peixes saltando à proa da montaria. Cavaleiros galopavam no encharcado, uma mulher seguia num boi imenso e vagaroso como se fosse para as fazendas de que falava Danilo. E longe, do casario sumido, com esta e aquela luzinha, da vila de cima, vinha o som de uma flauta ensaiando. Foi quando a montaria encalhou numa touça de mururés e flores d’água irromperam pelas bordas da embarcação. A Alfredo, aquela vegetação cabeluda, coleando na água, parecia virar bicho. Danilo, sem permitir que Alfredo o imitasse, desceu para desencalhar a montaria.
Pulou novamente na popa, fincou a vara no fundo e deu impulso, puderam sair de cima dos mururés. Danilo, vara em punho, falava que o seu gosto era estar longe, viajando ao lado de um primo no mar da contracosta, aprendendo a pilotar. Mas tinha fé ainda de que haveria de ser piloto de barco no Maguaraí. Agora, fazia de conta que estavam no mau tempo, na baia, com as velas içadas, como se fosse no barco “São João”.
— Mas em que baía a gente viaja? Na do Sol? perguntou Alfredo mostrando seus conhecimentos geográficos.
— Na baía!
Para Danilo só existia uma baía no mundo, a de Marajó e o mar da contracosta que vinha, na boca dos tripulantes, enrolado em trovoadas e lendas.
— Vamos, Alfredo, vira a vela. Prende a bijarruna, Mariinha. Ia contando os incidentes da “viagem”. Agora desviava a embarcação de uma “onda alta”, adiante era uma refrega traiçoeira do vento. Mas ali tinha piloto. E o farol? Onde o farol?
Alfredo apontava longe, era a janelita iluminada da nhá Porcina.
A montaria, esmagando os mururés, fazia bigode na proa, num chuá saboroso. “Oi tempo!” — gritava Danilo, empunhando a vara como se fosse a cana do leme.
Por fim, anunciou que o temporal havia passado. Podiam os senhores passageiros sair para o convés.
[34] Mariinha esmigalhava flores de mururé e espremia a ponta do vestido branco de florinhas amarelas, que havia molhado. Alfredo, de blusa aberta, teimava divisar o clarão de Belém. Rosto suado, luzindo de luar, olhos pequeninos, Danilo sondava o horizonte, o céu, a água, num ar de quem adivinha. A montaria avançava sobre a lua agora solta e alva como uma garça.
Quando, pela madrugada, ao avistar Cachoeira, uma lancha apitou três vezes, por norma, mas longamente, o Major saltou da rede:
— Aí vem a oposição, apitando.
“Teriam ganho?”, perguntou mentalmente. E alto, sacudindo o punho da rede de d. Amélia:
— Só banzeiro na proa.
A novos apitos, tão desnecessários quanto insolentes, no juízo do Major, seguiram-se foguetes. Da montaria que passou mais tarde, pela frente do chalé, Major ouviu ecos do que se falava na lancha, no trapiche e já na casa de d. Violante. Andou soprando, nervosamente, o pó das caixas de tipos, examinou a ratoeira na despensa, com impaciência e resmungão.
— Vá apitar e esfoguetear pro diabo, desabafou por fim, junto ao fogão onde d. Amélia fazia beijus de tapioca.
A lancha não era bonita nem tão veloz, como diziam os seus aficionados e os oposicionistas. Seu casco era pouco resistente, arriscaria afundar-se se a máquina desenvolvesse a toda força. Mas sabia apitar e fumegar, com um grosso, impressionante bigode de espuma. Em velocidade e feitio, não podia competir com a sua rival, a “Lobato”, lancha neutra na política local, que rebocava os barcos de Manuel Coutinho e da d. Leopoldina. Nunca, na baía nem no rio, foi possível comprovar qual das duas corria mais. A “Guilherme” com medo de ir pro fundo, a “Lobato”, por moderação recomendada pela proprietária, d. Leopoldina, que poupava lenha, queria conservar as peças, render o casco, tudo muito digno de sua fama de grande avarenta. Assim, a “Guilherme” [35] evitava toda e qualquer ocasião em que pudesse emparelhar, proa à proa, com a “Lobato” e tirar a teima. A oposição negava que fosse a fragilidade do casco o motivo real de a “Guilherme” não ter ainda resolvido aquela parada. Queria apenas retardar uma vitória certa e definitiva, o propalado e ameaçador momento em que revelaria toda a sua velocidade, deixando para trás e para sempre a sua rival. Mestre Silvino, da “Lobato”, que, em certas ocasiões, desobedecia as ordens da patroa, bem que desafiava. Sua lancha cortava a água fino, com a sua proa de iate, sem tanto banzeiro e tanto resfolegar.
Quanto à navegação do partido do governo, dr. Bezerra tinha o “Bicho”, com pretensões a navio gaiola, toldo e meio, o camarote do comandante lá em cima, chaminé respeitável, porão para 60 reses que conduzia das fazendas. Raro encostava no trapiche municipal, passando, cauteloso, para não encalhar nem dar acesso a curiosidade da vila, como acontecia na “Lobato” e na “Guilherme” onde invadiam convés, camarote do comandante, sala de máquina.
Pelo seu ruído, fumo e apito, a “Guilherme” agitava a população. Semanalmente trazia boatos, jogando a sua maresia e os alarmas da oposição pela beirada e fundos das casas da rua de baixo, indo espalhar-se no mercado, ao pé da máquina de Doduca, morrendo na botica do Ribeirão ou ao fim de um gamão na casa do juiz. Em tempo de eleições entrava em Cachoeira, embandeirada, repleta de políticos e foguetes, a subir e a descer o Arari, carregando eleitores, urnas, carne fresca, mesários, cachaça e molhos de tabaco, fumegando de oposição e cabala.
Duas horas depois da chegada da “Guilherme”, entrava no chalé, com um jornal na mão, contando as novidades da lancha, Rodolfo, o tipógrafo, o antigo aprendiz do Major. Marcada a lápis vermelho, lá estava a notícia tão festivamente apitada e recebida com tamanho foguetório.
O Major, fingindo não ter pressa, passando a vista antes por outras colunas do jornal, leu a nota marcada, tornou a ler, e d. Amélia lhe viu o sorriso de alívio, já de zombaria e segurança de si mesmo.
Dirigindo-se a Rodolfo, exclamou então o secretário:
[36] — Tu, Rodolfo, mais uma vez engoliste um boato. São os apitos. Aqui, a notícia não deixa duvidas. Está aqui. Foi um desembargador, ouviste?
Parou, limpou os óculos e virou-se para d. Amélia, num tom de pouco apreço:
— Um desembargador que deu parecer.
Pôs o pé descalço na ponta do banco onde estava Alfredo, coçou a perna e esclareceu, pausadamente:
— Pelo que me consta, pelo pouquíssimo que sabe este seu humilde aprendiz de Direito e legislação eleitoral, parecer não é, nem aqui nem no tempo de Roma dos Césares, não e nunca uma decisão final.
E estendeu o jornal, sacudindo-o, a apontar a notícia, diante de d. Amélia, que enxugava as mãos num pano de cozinha:
— E isso já é para que o Jovico solte os foguetes que soltou hoje de madrugada? Péssimos foguetes, aliás.
Nesse instante, retirado o pé do banco, sangue no rosto, olhar de orador de júri, demonstrava, como advogado e fogueteiro, conhecimento e triunfo.
Logo voltou a sorrir, disposto a escutar tudo que Rodolfo tinha para contar.
— E a Violante? Essa, coitada, resume-se a gastar o seu café com aqueles pândegos, não?
Rodolfo tinha o tique de contorcer-se um pouco quando falava, a relancear a cabeça, circulando o olhar pelo chão, banco e paredes para concluir encarando enfim o seu interlocutor. Disse que, na verdade, correu várias vezes o velho charão de café na casa de d. Violante, pela convicção de que aquele parecer favorável aos oposicionistas já significava vitória. Os jornais passavam de mão em mão na sala cheia, mas todos cegos, todos tontos, assegurando, com barulho e gabolice, que aquele parecer era mesmo a decisão final.
— Minto — emendou o tipógrafo —, menos d. Violante.
Na sua máquina de costura, óculos descidos, ela repetia o seu “ver e crer como São Tomé”, guardando para si a boa impressão que lhe dera o parecer.
D. Violante, viúva com dez filhos, sendo três ainda menores, vivia da costura e dos peixes que os seus rapazes lhe traziam do rio e das baixas. Bem cabocla, pouca altura, testa larga, tinha um olhar indagador e perspicaz. Morava na rua de baixo, vizinho do trapiche municipal, fundos para o rio, entre o corpo da guarda e a taberna do Salu. Trazia na família uma legenda de cabanagem, era uma Vinagre. O marido tivera várias atividades no município, vaqueiro, fiscal da Intendência, feitor, negociante de plumas de garça, curtidor e mariscador, capanga sempre ao lado dos Feios em oposição aos Bezerras. D. Violante era da oposição a seu modo, censurando no marido o gosto da cachaça, do baralho, da capangagem, a impontualidade e incorreção em alguns de seus negócios. Quantas vezes, não verberou o procedimento do marido, ouvindo-lhe as façanhas eleitorais:
— Na trapaça, não, Mundico. Não te aprovo. Tu, os Feios e os Bezerras podem ser metidos num saco só. A raça é a mesma.
Quando ele morreu, quase de surpresa, d. Violante chegou a conclusão, sem que quisesse tornar bem claro isso na cabeça, de que seu marido não lhe fazia tanta falta como era de esperar. Viu-o ali, na esteira, morto, os filhos em roda, chorando em coro, numa alta e copiosa lamentação noite adentro, o que tanto impressionou Alfredo. De olhos vermelhos, d. Violante, sempre diligente, na cozinha e na sala, sem dizer palavra, não entregara a parente ou vizinho a direção da casa. E logo, em tão pouco tempo, se habituou à viuvez como se fosse isso o seu natural. Era dessas mulheres que parecem viúvas por natureza ou gosto, a quem a gente nunca se lembra de perguntar se casou ou viveu com um homem, certo, porém, de que é um dom a sua viuvez.
Nunca saía de casa. Nem mesmo em dezembro, quando a igreja se abria para a festa da Conceição, animava-se a retirar da mala o par de sapatos que, depois de anos, tinha ainda na sola um resto de selo. Raro era alguém dizer: vi a d. Violante no banquinho da frente de casa, espairecendo ou na beirada do rio espiando as embarcações, à espera que os filhos voltassem da pesca. Tinha na mesa da máquina, na palma da mão e na ponta da língua os acontecimentos da vila, dos jornais e revistas vindos de Belém. Era [37] diferente da outra costureira, a Doduca, por várias razões. Em Doduca, havia o hábito da bisbilhotice e da anedota suja em torno da qual girava o círculo dos velhos maldizentes da vila presidido pelo juiz substituto. Doduca tinha fumaças de sociedade, ia a Belém. A filha, que andara na Escola Normal, sempre viajando, ora na “Guilherme”, ora na “Lobato”, tirava retrato saindo da Basílica de Nazaré depois da missa das dez. Doduca selecionava freguesas, costurando “só para senhoras”, com ambições de montar um atelier na capital. Trazia de Belém velhos figurinos franceses e a crônica das suas intimidades com casas ricas. A verdadeira classificação de seu ofício, vinha agora dizendo de Belém, não era a de costureira, mas “modista”. Apesar de sua tísica, benigna nos últimos tempos, a casa arruinada, do pouco rendimento da costura, Doduca sonhava com o oficialato da Marinha para o filho, enquanto ia aos poucos perdendo a ilusão e o empenho de casar a filha com um fazendeiro ou um funcionário do Banco do Brasil, em Belém. A moça só lhe dava agora despesas e desgosto que não confessava aos seus convivas da casa velha. E estes, sabedores de tudo, lhe respeitavam o silêncio.
D. Violante fazia unicamente roupa de homem, de moleque e para esta e aquela rapariga que lhe fosse pedir, pelos fundos da casa, quase em segredo e com ar envergonhado, o talhe de uma blusa. Pedido aceito debaixo de carões e duros vaticínios sobre a sorte daquelas raras freguesas quase clandestinas. D. Violante cortava blusa de vaqueiro, calça de pescador, dólmã de marítimo, sem nunca olhar molde ou figurino, sabendo talhar de memória, como dizia. Dona de seu ofício, impunha os seus padrões. Era inútil que um freguês, fosse de fazenda, feitoria de pesca ou tripulante, exigisse este e aquele feitio, com explicações miúdas. “Que tu queres? Blusa, paletó, dólmã, camisa, cueca, pijama?” O resto era por conta de sua habilidade, seu capricho, sua moda. E não tinha pressa, a roupa mofava no cesto, as encomendas se acumulavam. Recebia com desaforos os fregueses que vinham reclamar. Sendo da sociedade nunca a freqüentou senão no tempo de moça e isso raramente. Em matéria de maledicência, não admitia em casa que se contassem anedotas feias nem que se falasse mal senão dos políticos e [39] dos grandes.
— Não quero que me falem dos pequeninos nesta casa. Aqui, não.
Agora, na manhã da chegada estrepitosa da “Guilherme”, major Alberto, desfeito o susto, estava curioso de novos pormenores: como mesmo d. Violante recebeu a notícia do parecer?
Rodolfo repetia que a Vinagre não se deixava envolver pelas fumaças e apitos da “Guilherme” e o foguetório do Jovico. Ela mostrou as suas reservas. Ia ler a notícia depois, no intervalo da costura, entre duas e três da tarde. Ao pé da máquina, desdobraria o jornal, com vagar, atentamente, lendo tudo. Desde o editorial até as duas linhas de um confuso telegrama do Sião. Não se fiava tanto nos jornais. Feitos pelos homens, mentiam muito. A respeito da Cabanagem, por exemplo, quanta mentira, credo! Quanta calúnia, quanto ódio! E numa tarde recente, quando lia num telegrama os “horrores do bolchevismo”, voltou-se para o Rodolfo, os óculos na mão:
— Mas, Rodolfo, esses horrores aqui, que te parecem? Isto me faz lembrar o que diziam dos cabanos, dos meus parentes Vinagres. Lá se pode saber quando é a verdade. Aquilo na Rússia me cheira mais é a arte do povo. Abão, vamos ver.
Com voz rouca e ralhante, abria a casa para a rapaziada amiga dos filhos e que lhe tomava a bênção sob reprimendas: “Vocês todos são uns mimosos. Não fazem nada nem pela vida de vocês. Deviam correr com esse intendente, soltar esses ladrões de gado que comparados com os fazendeiros eram uns inocentes, queimar os livros de talões e atirar creolina na botica do Ribeirão por medida de higiene!”.
O próprio dr. Bezerra, quando passava pela janela do velho chalé de taipa, de esteios descobertos e reboco caindo, tirava o chapéu colonial, quase cerimonioso, para a d. Violante. Ela, na maquina de costura, erguia a cabeça, enfrentava o intendente, dando o bom dia seguido de um resmungo: “Quem não te conheça que te engula”.
Na manhã do parecer, d. Violante movimentava a máquina, com rapidez combativa, como se executasse inimigos políticos.
[40] Major Alberto não escondia a sua admiração: Violante possuía uma obstinada idéia do povo que fazia lembrar as mulheres da Revolução Francesa. E com o prazer de mostrar seus conhecimentos:
— Bem poderia estar com a sua tesoura e a boneca de alfinetes ajudando o mulherio a tornar a Bastilha, a cortar a cabeça do Rei.
E ponderava:
— Também... com o sangue que lhe corre na veia...
Rodolfo acrescentava detalhes do que acontecera na casa da viúva. Quando o Maciel, no regozijo geral, entrou na sala, d. Violante o expulsou:
— Maciel, a tua pistola de briga é essa piteira que acendes no fósforo do dr. Bezerra.
O chefe da oposição local, com piteira e guarda-sol, sobraçando jornais, fazia-se jovialmente de desentendido, piscando para os circunstantes.
— D. Violante, vou propor seu nome para a comissão executiva do nosso Partido.
— Mas, meu coitado, tu pensas que vou arruinar meu sangue comendo no teu cocho? Axi!
Rodolfo dava cor, exagero e vagar à narrativa. Major Alberto ria louvando o gênio da costureira e as artes do narrador. Apenas não sabia ela correr aquela malta que lhe invadia a casa e lhe acabava o café. Falavam que guardava numa colcha de retalhos cartas de Vinagre e Angelim, balas da Cabanagem, sem nunca dizer nem sim nem não quando lhe perguntavam se era certo.
Mas um apito no rio, dois, três, surpreenderam o chalé, a rua de baixo, os caminhantes do aterro. Não era esperada lancha àquela hora, Rodolfo partiu para o porto. Major Alberto voltou andar pela casa. D. Amélia, talvez, para disfarçar ou para não estimular a ansiedade do Major, sacudia mais demoradamente a toalha da mesa no quintal inundado. A água se arrepiava de sardinhas e matupiris que catavam o farelo do pão e dos beijus de tapioca.
Sempre pelas manhãs, Rodolfo, o tipógrafo, saía de casa para as suas voltas pelo mercado, espiar, de passagem, do meio da rua a sala já movimentada de Doduca, pára no barbeiro, [41] demorando-se numa puxadinha de palha, mal embarreada e chão batido que Raul, o jovem pintor, habitava.
Raul pintava montarias, remos, nomes das casas comerciais e cruzes para Finados. Caracterizava no São João os rapazes do boi-bumbá, cordões de bichos e as pastorinhas da Doduca no Natal. Na última festa da Conceição fora encarregado de ornamentar e embandeirar o largo da Matriz. Confessava a ambição: encarnar santos e dar a sua mão de tinta no altar da padroeira. A pedido de Rodolfo, pintara, naquela semana, o distintivo do Arari Futebol Clube, que foi exposto na banca de arroz doce do seu Cristóvão, no mercado e no meio da prateleira de espelhinhos, loção e talco do Abifadil. O próprio major Alberto, sempre em dúvida a respeito dos valores locais, mandou uma vez chamar o pintor na Intendência. Por instâncias de d. Amélia, encomendou uma cruz nova para Eutanázio. Levou Raul ao chalé onde lhe mostrou catálogos de tintas, quadros e pincéis. A propósito da Itália, citou No país da arte, de Blasco Ibanez e representou na varanda a cena em que Miguel Ângelo, na Capela Sixtina, pintando o Juízo Final, proibia a entrada do papa. Foi um dia de satisfação, mas, também, de insatisfações para Raul. Recolheu ao casebre com um suspiro: “Nós, os pobres, poderemos saber as coisas? Poderemos estudar o ofício que a gente escolher, que a natureza nos deu?”. Cachoeira estava tão longe da Itália, da arte... Abriu um velho mapa, pousou o olhar e a imaginação no Mar Mediterrâneo, na Itália... Fechou o mapa com impaciência, levantando um pouco de poeira.
Parte de sua lamentação e sonhos confidenciava ao Rodolfo e este:
— Mas viaja, rapaz, ora esta! Saco nas costas e... Estalou as mãos num gesto rápido, lançando o braço esquerdo para a frente como uma flecha:
— Vai!
Raul alegava deveres para com a mãe, o pai aleijado, era também de sua obrigação olhar para as irmãs que se tornavam moças.
Extraia as suas tintas de raízes e ervas, de frutos silvestres, fazendo milagres para encomendar de Belém pelo Abifadil uma e outra lata de um vermelho ou de um azul de sua maior precisão [42] ou preferência.
Na manhã seguinte à da chegada da “Guilherme”, Rodolfo foi conversar com Raul sobre o caso da cassação e a política fez o pintor largar o remo que pintava e exclamar, esfregando as mãos, como era de seu hábito:
— Mas tu, Rodolfo, falas do dr. Lustosa. Que ele está fazendo em Cachoeira? Passou o arame farpado em roda da vila. Tu bem sabes que se acabaram as festas do Por Enquanto, Recreio, de todas essas fazendinhas aí. Te lembra do oratório que eu pintei no Espírito Santo? Pois vi esse oratório debaixo do toldo do barco onde ia a Irene. Dr. Lustosa comprou tudo. Fez o “bem comum
Agora, só tem cerca e tabuleta: proibido cortar lenha, proibido apanhar muruci. E o progresso?
Rodolfo quis contestar, levar o amigo à parede, mas preferiu dizer que estava inclinado a desejar que os oposicionistas obtivessem a cassação. E isso por influência do dr. Lustosa. Tratando de organizar a grande propriedade nas cercanias da vila, devorando as pequenas criações de gado, dr. Lustosa preparava, com um certo vagar, em Belém, o seu golpe político sobre o dr. Bezerra. Ambos do mesmo Partido, poderiam ainda rasgar sedas na capital, embora divergências começassem a apontar em Cachoeira, numa e noutra questão das terras do patrimônio que Lustosa comia, impostos, direito sobre a beirada do rio, influência no cartório.
Lustosa utilizava a oposição em Belém e não em Cachoeira, onde era apenas o Maciel, piteira e guarda-sol, cigarro sempre aceso no lume do intendente. Servir-se já e já do Maciel, facadista de vinte mil-réis, tagarela de porta do mercado, com uma escritura muito enredada nos confins do Anajás, tenham paciência... Lustosa tinha era os olhos no major Alberto, por exemplo. Este, sim, mas Maciel? Não queria maiores atritos locais com o intendente. Dono das terras da redondeza, Lustosa, com isso, retirava do campo numerosas famílias que davam vida a Cachoeira com o movimento de ferras, embarques de gado, festas, compras no comércio local. Já se acreditava mais no dono da vila que no intendente. E Rodolfo prosseguia, contando: Lustosa chegara a visitar d. Violante e prometer-lhe uma nova máquina de costura. A viúva pôs os [43] óculos na testa, ergueu o nariz para aquele homem alto, exalando charuto e roupa engomada, agradeceu. Não podia se separar da máquina velha, a não ser que esta já não lhe quisesse servir mais e o ferreiro não soubesse dar mais jeito. As máquinas novas não eram boas como as antigas.
— Fico com a minha velha, doutor. Também não sou velha? As duas velhas se dão muito bem.
E entrecerrou os olhos, desconfiada mais que nunca, com aquele súbito e fácil oferecimento. Ela não lhe perdoava as proibições de lenha e muruci nos campos outrora livres.
— Máquina nova a custa daquelas proibições? Eras!
Explicava ao Rodolfo que a aconselhava a aceitar a máquina, sem compromissos, aproveitasse apenas o presente.
— Não, Rodolfo. Não me gabo de ser esperta. Pensa que maquina nova vai me costurar a língua quando eu tiver de falar?
Raul tinha um sorriso lento, acompanhando as palavras do Rodolfo, se soubesse desenhar, se soubesse mesmo manejar os pincéis, faria o retrato de d. Violante.
Rodolfo insistia na ação do dr. Lustosa em Belém a favor dos oposicionistas. Disputando com o dr. Bezerra a melhor confiança do senador Cipriano, chefe do Partido, acusava de fraude as eleições do município. Embora formalmente contra a oposição, ajudara por intermediários a interpor recurso no Tribunal Superior. Nas suas confidências em Palácio ou entre amigos no Café Manduca exibia franqueza: várias urnas haviam submergido no rio, outras violadas, livros sumidos, listões ausentes. Dr. Lustosa fazia-se honesto para melhor aplicar a sua desonestidade, teria sido o comentário de velho conviva do Palácio do Governo.
— Todos os cemitérios do município votaram desta vez. Não escapou um defunto, dizia Rodolfo.
D. Violante, na sua máquina, fazia justiça: todos desenterraram os seus mortos. Apostava que o seu falecido havia também votado.
— lima seção do Camará, acentuava Rodolfo, foi uma verdadeira sessão espírita. Maciel, no mercado, lambendo o arroz doce, pilheriava numa fingida indignação: todas as almas votaram.
[44] E o tipógrafo repetia o que ouvira do Major, no seu habitual comentário político ao pé do fogão, com d. Amélia mexendo o cozido e picando a couve:
— Essa eleição a bico de pena corre pelo país inteiro: isso nunca que foi uma República. E uma pantomima.
Major fazia as suas afirmações como se fosse da natureza, de ordem de Deus, do mal que há nos homens a pantomima que era a República. D. Amélia, por isso, não se surpreendia, crendo que se havia algo errado, pelo menos os pantomineiros se aproveitariam e nada podiam consertar.
O que o Major dizia, quase por pilhéria ou passiva verificação, como se aquilo não tivesse cura, adquiria em Rodolfo certa força de convicção e o desejo de pensar num remédio. Seu gosto era ver mudar um pouquinho, embora apenas de nome, o intendente municipal. E verdade que tinha um irmão, o Didico, porteiro da Intendência e estimava o major Alberto que lhe ensinara tipografia, lhe dera um ofício moderno, como dizia o Major, da arte de um alemão de bastante cabeça, inventor da imprensa.
Raul louvou a ação de d. Violante. Rodolfo aí se impacientou:
— Mas quem pintou as primeiras tabuletas? Eu? Não te entusiasmaste?
— Pintei, foi, nunca neguei. Me entusiasmei, sim. Não tive o faro da d. Violante. Mas o homem não falava em máquinas, em telégrafo, em empregos na fazenda? Pintei o nome “bem comum”, bem animado.
— Pegou?
— Não, não pegou. Mas não prometia trabalho, melhoramentos?
E Raul contou o que lhe viera dizer a velha Águeda, uma noitinha, quando voltou do campo sem um galho de secaí, com as filhas atrás, resmungando.
— Taí a bondade das tuas letras, Raul. Fez foi nos tirar os galhos secos que a gente tinha, a gente ajuntava. Tuas letras nos expulsaram do campo. Que ganhaste com isso? Melhoraram o teu chiqueiro? Era melhor tu não ter aprendido nunca o ABC, infeliz.
Cabeça no chão diante de d. Águeda, Raul, para sua maior [45] vergonha, pensava: que diria d. Violante? Era de queimar o pincel, a mão que pintou...
Rodolfo apreciou aquele desabafo. Disse-lhe que não tinha escutado qualquer palavra da parte e d. Violante a esse respeito. Mas estivesse em guarda.
— É verdade que te ausentaste de lá?
— Ocupação, Rodolfo.
Raul narrou então a última visita do dr. Lustosa ao que o fazendeiro chamava de “atelier”. Lustosa mais uma vez louvou o dom do Raul, mostrou que os artistas aprenderam a trabalhar sempre na maior pobreza, em meio do sofrimento, porque nasciam dotados de uma natureza especial para suportar tudo, o que era tão necessário às artes.
— A miséria é a chocadeira dos gênios, meu rapaz. Estive na Itália, nos museus da Europa.
Lustosa falou que necessitava de novas tabuletas, havia comprado novas terras, estendendo a propriedade. Novas tabuletas para evitar as invasões. Era necessário educar o povo. Se bem que o povo não soubesse ler... Mas uma tabuleta com letras significava sempre proibição. O valor da alfabetização estava também em saber as leis, ler as tabuletas que proíbem...
— Ora, veja, Rodolfo, para que já servem as letras.
Raul ergueu-se e apanhou por acaso a velha máscara do último carnaval que usara no baile o major Emiliano para poder dançar com Celina. Mas a família desta bispou e retirou a moça do baile.
O pintor rasgou a máscara e atirou os pedaços janela fora. Rodolfo olhou para o amigo, surpreendido. Logo passou a examinar uma cruz de sepultura ao pé a porta, já com as letras do nome. Não conhecia aquele defunto.
— De onde esse?
— Encomenda de Caracará. Mas, sim, me deixa contar: e eu disse ao dr. Lustosa que não podia mais pintar as tabuletas. “Ando ocupado. Mesmo o doutor paga pouco”.
Então foi um espanto, um quase assombro de Lustosa, continuou o pintor. O fazendeiro lamentou-se, fez-se vítima repetindo: isto é que é, onde já se viu, onde já se viu, pago pouco! Não [46] estava dando trabalho a ele, Raul? Era pouco o que havia trazido ao município? Onde estava a cooperação? Julgavam que aquela Fazenda não era um sacrifício de tantos anos de advocacia? Aquele progresso trazido por mãos dele a Cachoeira seria por pura necessidade de enriquecer ou puro “maquiavelismo”? Ambição? Cobiça? Queria compará-lo aos coronelões de Marajó? E vens me dizer que pago pouco, filho de Deus. Eu que poderia ter trazido as tabuletas de Belém a bem dizer de graça. Onde já se viu artistas discutindo preços! Tens aí um dom e não aproveitas, não sabes... Como é bem o ditado? Deus dá asas... Ah...
Espadaúdo e risonho, sempre expansivo, de tão fino tratamento e quente persuasão, o fazendeiro enchia o casebre do pintor com uma familiaridade ruidosa. Advogado de banca forte, deputado estadual, senhorio de quarteirões em Belém, fazia ver ao rapaz que, acima da honra de estar ali, visitando-o, provava ser homem liberal, generosamente simples, admirador das artes, seja na Itália ou em Cachoeira. Entre aqueles cacos cheios de tinta, um Santo Antônio maneta, cruzes, a puída bandeira do Divino, o pai aleijado entrando para ganhar charutos e logo saindo porta fora — estava ali o Lustosa sem torcer o nariz. Aninhadas no corredor, as irmãs de Raul, esfregando o pé na barriga da perna, espiavam. A um aceno do fazendeiro, as moças se aproximaram e mais retraídas ficavam, mudas, apenas sorrindo no crescente embaraço, enquanto Lustosa lhes fazia uma graça ou lhes pedia apoio aos seus argumentos contra Raul. Ao fim, perguntou se queriam alguma coisa de Belém. Encostadas na parede enegrecida pela fumaça da lamparina, a mais velha torcia a cintura do vestido, a do meio arranhava o pescoço e a terceira, piscando olhava o doutor como para outra espécie de gente, para um mundo que acreditava nunca entender.
Agora, na conversa com Rodolfo, Raul decidiu-se:
— Não pinto mais uma letra. E tenho cá uma idéia...
— Como?
Raul pôs o dedo nos lábios:
— Bico.
O tipógrafo voltava, levando para o chalé as conversações do [47] passeio matinal, escutadas com alegre atenção por d. Amélia.
D. Amélia andava apreensiva com a questão eleitoral, por causa do emprego do Major. Embora com tantos anos de serviço, não tinha direito a efetividade. A uma simples mudança do intendente, ainda que fosse da mesma política, poderia ser demitido. Mas Rodolfo tentava tirar-lhe as apreensões, acreditando que o Major ganhara o respeito e a consideração de todos os partidos. Caso o dr. Bezerra perdesse a questão, teria a oposição o atrevimento de praticar o primeiro ato impopular, exonerando o Major? Quem, com a competência, a honestidade, o desprendimento do Major para secretário?
— E o que tu pensas, Rodolfo.
E logo, como surpreendida, d. Amélia indagou:
— Mas por que tu me andas agora com tanta boa-fé, Rodolfo? Que conversão foi essa, então?
— Não é a minha conversão, d. Amélia, é o caráter do Major.
D. Amélia abanou a cabeça. Caráter? Nessa política? A uma referencia do amigo sobre d. Violante, que nunca virava casaca, sempre fiel à oposição, embora à sua maneira, d. Amélia fez um meneio, a mão no quadril, inclinando a cabeça de um lado e outro:
— Deste lado o caráter do Major... Do outro, o caráter de d. Violante... A política passa pelo meio, governo e oposição juntos, fazendo adeusinho ao caráter.
— A senhora tem é má vontade com os homens, d. Amélia.
— Nenhuma, nenhuma, criatura. Mas esses homens aí? Os Bezerras, os Feios, os Coutinhos? E esse dr. Lustosa? Ah!
Rodolfo conhecia bem aquele Ah! de pouco caso tão habitual nas exclamações de d. Amélia. Velhos amigos eram, sim, porém Rodolfo sempre a chamava de dona e a tratava de senhora. Naqueles últimos tempos, crescia nele um respeito por ela que raro sentia pelas senhoras brancas da mais alta posição na vila ou que passavam nas lanchas dos fazendeiros. Decerto se murmurou contra essa amizade e isso entre 1909 e 1912. D. Amélia viera de Muaná, passara alguns dias em Cachoeira, sumiu e voltou para fixar residência no chalé. Estava grávida de seu primeiro filho com o Major, o Alfredo. Nesse tempo, Rodolfo passou a freqüentar [47] assiduamente o chalé e foi quando o Major começou a montar pouco a pouco a tipografiazinha. Com seus 23 anos, Rodolfo desfrutava o montepio da mãe, cheio de brilhantina no cabelo e nos fatos de linho H.J. Pouco ou quase nada trabalhava. Dado a mulheres, era a bem dizer, o galã da rua de baixo. D. Amélia gostava de ouvi-lo falar da vida cachoeirense; dos numerosos amores das senhoras brancas que tratavam d. Amélia de lado, ele trazia poucas e boas. Causava-lhes despeito ou zombaria saber que a viuvez do secretário engordara nos pirões da cozinheira, sesteando nos braços da negra. D. Amélia fingia alheiamento, mas atenta a tudo que dela se falava, lisonjeava-a um pouco aquele mexerico em volta de sua pessoa, por força da posição do Major, deixando-se ficar no chalé, meio misteriosa, sem sair muito. Apenas, mostrava o seu belo rosto negro na janela ou conversava nos fundos da casa, rio portão do quintal ao lado, com pessoas pobres da rua de baixo. As mulheres de pé descalço contavam-lhe o que ouviam pela rua ou das patroas de roupa. Amélia de tal assunto pouco falava. As vizinhas ficavam estimando aquela pessoa de sua pura igualha, preta além de tudo, que vivia com um Major, um homem de representação. Mas nem parecia! Tão sem bondades era que dava gosto. Tão a mesma, fiel A sua origem e aos seus! Em vão d. Amélia lhes dizia que nada tinha, embora nunca escondesse que já fazia parte da vida do Major, dificilmente de ser arrancada daquele chalé. Ao mesmo tempo, mantinha-se um pouco à distancia das próprias pessoas pobres. Estas colaboravam para isso, para que d. Amélia se comportasse mesmo como uma senhora no chalé, por respeito ao Major, para honra das mulheres sem nome e da sua cor. D. Amélia escutava as conversas em torno de sua permanência no chalé, o boato de noivados do Major, viúvas ou moças maduras, com teres e haveres, que se propunham casar com ele e acabar de uma vez com aquela vivência da preta com o secretario. Escutar era para a mãe de Alfredo o seu melhor gosto. Era como se exclamasse, com pouco caso e divertida: grandes coisas! Ora esta! Nem dizia ao Major o que lhe botavam nos ouvidos. Rodolfo também discutia com ela, animadamente, acerca dos boisbumbás, cordões de bichos de São João de que era um dos [49] organizadores e diretores. D. Amélia, que passara um São João em Belém, em companhia do Major, não concordava com o feitio do boi-bumbá de Cachoeira. Na cidade, os bois eram menos parecidos, mas muito mais bonitos. Em Cachoeira, meu Deus, que desconformidade, que tamanhos bois.
— Boi de tamanho natural, d. Amélia.
Rodolfo não entendia bem aqueles modos dela chamando-o para a cozinha, para conversarem longamente nas manhãs em que o Major estava na Intendência. Até mesmo lhe pedia que rachasse um pau de lenha ou a ajudasse a partir com a machadinha o osso 4a carne ou pilasse, no pilão de café, os tucumãs da canhapira. “Me acompanha até a loja do Jorge, Rodolfo. Me ajuda a destrançar os punhos desta rede. Me escolhe uma cambada destas pescadas aqui de seu Luiz Piranha”. E se ele aparecia na manhã de um sábado, hora de lavar casa, d. Amélia, de saia arregaçada, vassoura, balde d’água e lata de creolina, não dispensava o rapaz: “Ah, mas Rodolfo, foi Deus que te trouxe a esta hora, tem paciência, tira os sapatinhos, meu coração, enrola a bainha da calça e me ajuda a assear esta casa”. Rodolfo, um pouco surpreendido, meio encabulado, pois era coisa que não fazia nunca nem pras irmãs em sua própria casa, via-se sem querer varrendo a água e a espuma do chão ensaboado, esfregado e enxuto depois por d. Amélia. Isso deu margem a um murmúrio demorado de indignação e má língua entre as duas irmãs de Rodolfo. Aquela intimidade perturbou o aprendiz do Major. Rodolfo viu de perto a simpatia e calor de preta tão moça ainda, a diferença de idade entre ela e o Major, o riso de uns dentes tão vivos no rosto maciamente escuro que parecia uma provocação e um abandono. Era ou não era simples cozinheira, preta de pé rapado, trazida pelo Major para o pé das panelas? E seu passado, ainda recente, a aventura nas Ilhas, a coça que o irmão mais velho lhe deu quando a viu prenha; o filho depois, morrendo afogado, de pai que até hoje não se soube quem foi?
Rodolfo, diante daquela crioula tão ao alcance de sua mão, teve o seu mau pensamento. Amélia, por preta, cozinheira e tão moça, não se recusaria a aceitar aquela verdadeira corte que ele, por tática e exercício de sedução, resolvia lhe fazer. Não tinha [50] posição social, a mãe com montepio no Tesouro do Estado, mulato, mas com lugar nos bailes de primeira? Insinuava-se então com uma habilidade e tato que a cortejada até se admirou. Por dois motivos: primeiro, mostrava-se ele muito fino quando uma “sem nome” diante dos rapazes de sociedade é sempre tida como negra de fogão. Segundo, mas por que então faria isso?
Oi que espanto foi o do aprendiz do Major, e sua situação, quando d. Amélia, com a mesma naturalidade com que o levava para a cozinha e o chamava de “meu coração”, lhe demarcou bem a linha separando aquela amizade do outro sentimento ou de outra coisa desejada por ele. Chegou mesmo a facilitar a ocasião adequada. Levando o filho a passeio por d. Prisca, uma senhora escura então assídua ao chalé, viu-se Amélia sozinha, enfiando as miçangas na volta e junto, o aprendiz, sentindo na amiga o cheiro dos jasmins que lhe trouxera e a fava e baunilha no cabelo. Ao primeiro movimento dele, Amélia, como atingida por uma ferroada, recuou o ombro e logo olhando para Rodolfo, sem demonstrar surpresa ou repulsa, mas espontânea e definitiva:
— Ah, Rodolfo, pois tu não vê que eu ia me esquecendo? Tu, quando saíres, podes me pedir a seu Alberto lá na Intendência que me traga a ratoeira que o preso lá na Guarda consertou? Mas ó minha Nossa Senhora como anda dando rato nesta casa.
Disse, tão segura de si, sinceramente necessitada de mandar aquele recado ao Major e já com as miçangas todas enfiadas na volta.
A maledicência, porém, silvou entre algumas famílias de posição em Cachoeira. D. Amélia tinha conhecimento disso e andava sempre a inquirir, a procurar a origem, quem primeiro falou, onde, precisamente, se inventou a conversa. A Rodolfo, nunca tocou no assunto — Deus a livrasse — para não despertar neste as antigas pretensões ou suspeita de que ela insinuava algo. Sabia, entretanto, com segurança, que a conversa não partira do tipógrafo. Este recuou o passo para sempre dentro da linha demarcada pela amiga que passou a estimá-lo, por isso, muito mais. O tipógrafo, daí em diante, na verdade, passava a ver naquela preta de fogão uma mulher. D. Amélia, uma verdadeira senhora, nem parecia. Impunha-se tão espontaneamente como se dissesse, com [51] naturalidade e indiferença: olhem que não sou mais cozinheira e se apenas fosse isto, que era que tinha? Isso não bastava para me fazer respeitar? Mas, também, pouco se me dá que me chamem de senhora. Grandes coisas!
Quanto ao aleive, d. Amélia guardava um rancor miúdo e quase secreto, numa expectativa constante.
— Um dia hei de saber quem foi. Hei de medir o tamanho da língua.
Major Alberto havia saído para a Intendência. Rodolfo compunha o inacabável livro do juiz, falando a d. Amélia sobre os planos os de futebol para o verão quando secasse o campo e a chegada em Belém de um Meneses, formado na Inglaterra, e que viera encontrar a família inteiramente arruinada.
— Contam que o rapaz só faltou enlouquecer. Pois só veio a saber de tudo quando chegou.
— Aqueles Meneses bem que mereceram o castigo, disse d. Amélia, que sabia das crueldades da família quando dominava Marinatambalo. Recordava-se particularmente da cena entre uma Meneses e Rodolfo num baile de posse na Intendência. Ela pudera ver tudo do sereno. No seu linho H.J., sapatos de pelica, Rodolfo, ao tocar a música, avançara para tirar aquela Meneses vinda de Belém, alta e branca, estofada de cambraia e gaze.
“Mire-se primeiro”, foi o que lhe disse o olhar da moça, num risonho desprezo. Repuxou a gola do vestido, já estendendo a mão ao cavalheiro, um rapaz da cidade, que também risonhamente fingia Mo perceber nada.
Mais tarde, o tipógrafo negava que houvesse ocorrido o incidente.
Agora, calado, enchia de tipos o componedor. D. Amélia observava certa mudança no caráter do seu amigo. Afeiçoara-se mais à tipografia, para admiração do Major. Empenhara-se no clube de futebol e andava tratando bem de Marciana, que ele tirou da casa de d. Violante, tia da moça, depois de separar-se da mulher com quem casara obrigado por lhe ter feito um filho e pertencer a moça à sociedade. D. Amélia notava-lhe certo gosto pela política, inclinando-se para a oposição, querendo levantar uma palha por [52] sua terra.
— Mas, Rodolfo, por que negaste de pé junto o que muita gente viu naquele baile?
— Que baile? Que aconteceu? Neguei o que, d. Amélia?
Ela aí já nem queria insistir, por lhe parecer que o assunto ofendia o tipógrafo.
— Pois a vergonha foi para ela, Rodolfo. Grandes coisas, ela!
No intervalo que se fez, Rodolfo logo aproveitou para falar dos ecos da notícia da “Guilherme” lá pelo cartório, mercado e balcão do Abifadil.
— Mas, Rodolfo, tu falas da oposição, e o Maciel, filho de Deus? O tipógrafo sorria. Com efeito, a oposição chefiada pelo Maciel era partidariamente apenas o Maciel... Uma água fria na fervura. Tinha uma intenção secreta: lançar um movimento oposicionista, livre de Maciel, dirigido por homem como major Alberto. Mais animado ficou ao saber que Major, republicano quando moço, teve a sua casa, uma vez, queimada pelos monarquistas e escravagistas. E quis desabafar:
— O Major bem que podia aceitar a direção de um movimento nosso aqui... E um republicano histórico.
D. Amélia, exagerando o espanto, cruzou os braços, a olhar para Rodolfo num ar de alegre censura. Já de há muito suspeitava da intenção de Rodolfo sem nunca desejar que acontecesse e sem nunca acreditar que o Major aceitaria. Ficou em silêncio, voltou a arear a panela que deixara no banco em cima de um catálogo. Os meninos riam na saleta. O periquito voou para o ombro da senhora. Rodolfo catava os tipos nos caixotins, com rapidez e ouvido na conversa. De repente, d. Amélia, de costas para ele, olhando à janela, chamou-o, abafadamente, acenando para o amigo:
— Vem cá, Rodolfo, Rodolfo... Espia só uma coisa...
Como ele não entendesse logo, pois queria completar no componedor a palavra “prescripção”, ela chamou, intimativa:
— Rodolfo!
De componedor na mão, correu ele para fixar a vista naquilo que d. Amélia apontava lá no caminho do aterro defronte da Intendência ao sol das onze horas.
[53] — Pois não é o seu desejado chefe político, o ilustre secretário dando audiência em plena porta do Palácio com a senhora professora chegadinha de Portugal? Que tal, meu louro?
Realmente, lá estava o Major, de paletó preto e calça branca, a calva ao sol, conversando com a professora, toda entonada, como capa de figurino. Rodolfo voltou ao trabalho, gracejando. D. Amélia irritou-se com o periquito que lhe quis beliscar a orelha, levou a panela para a cozinha, um pouco chocada, não sabia bem, procurando apagar de si o vago mal-estar que lhe provocou aquele acontecimento. Este, um minuto depois, agora na conclusão dela, já sem nenhuma importância. Quando voltou para a varanda foi para ouvir de Rodolfo uma notícia de Belém que tanto interessara o tipógrafo.
— Mas isso que tu leste, que tu falas, Rodolfo, dos teus colegas tipógrafos... E que pararam o trabalho?
Rodolfo apontava a notícia no jornal. Havia tocado nisso ao já pintor e este, com interesse, aludira a um movimento de carroceiros em Belém quando fora à cidade pela primeira vez. D. Amélia falou então que conhecia um encadernador em Belém, o velho Lício, casado atrás da porta com Mãe Ciana, uma tia. Homem bruto, mas competente, gordo, carregado de livros. Uma vez, com feição sombria, e batendo o indicador amarelo na ponta da mesa, falara na palavra “greve”. Sabedor de que o Major era fogueteiro, andou pedindo explicações sobre a arte. Depois da conversa com Lício, o Major falou para Amélia que o sujeito tinha as suas leituras, e sussurrou, zombeteiro e com ar conivente: Perguntou-me se eu queria fabricar umas bombas. Ora, já se viu. Umas bombas. Quando ela e Major foram ao Teatro da Paz — era uma companhia portuguesa —, Major, nos intervalos, abanando-se com o leque da companheira, repetia: umas bombas. E de volta do teatro, ao fecharem o portão da casa das primas de Amélia, onde o casal w hospedava quando ia a Belém, Major colhendo um ramo e jasmins do jasmineiro, murmurou ainda: Umas bombas. Muitas noites no chalé, d. Amélia escutava o Major repetir a conversa. Umas bombas.
— Mais, não sei, disse ela desatrapalhando o punho da rede [54] de Alfredo: como esse demoninho torceu este punho, Ave-Maria! Ao voltar da Intendência, major Alberto trazia a certeza de que o Tribunal confirmaria o mandato do dr. Bezerra.
— As Limas que votaram pesam no Tribunal. As urnas não são urnas, são igaçabas, urnas funerárias. Ah, esta República... Tinha o emprego garantido e cada vez mais insegura a fé na
República. “Isso não é sério, isso não é sério”, vinha dizendo mentalmente. E alto: “Pra mim tanto faz como tanto fez”. E junto de d. Amélia, como se esta estivesse a par de tudo que ele pensava:
— Mas se os outros ganhassem? Se houvesse nova eleição? As coisas se consertariam? Qual!
— A sua valência foi não perder a Secretaria, não, seu Alberto?
Ela dizia sério, mas o Major compreendeu como troça. Que pensava aquela mulher, que sentia, que juízo fazia e afinal por que e quando começou ela a ter opinião em tais assuntos?
E de súbito, para espanto de Rodolfo e curiosidade de d. Amélia, manifestou saudades da Monarquia.
Na manhã seguinte, como se falasse ainda na Monarquia, d. Amélia arriscou:
— Mas a Monarquia com aquela escravidão, seu Alberto?
Andando de um lado para outro, punhos soltos, pés no chão, major Alberto tentava explicar a Monarquia liberal da Inglaterra. Interrompia-se. D. Amélia recordava-lhe então que ele mesmo lhe falara, certa vez, há tempos — tinha ainda Alfredo nos cueiros — de uma guerra dos ingleses contra um povo na Ásia e na África, não sabia onde.
— Não sei bem direito, mas você me disse. Mostrou jornais, nomes. Os ingleses não eram os culpados?
Tocando, de leve, a testa com a ponta do lápis, major Alberto parecia meditar. Afinal, era difícil estar discutindo os acontecimentos do mundo com pessoa da natureza e condição da Amélia ou julgando este e aquele povo, este e aquele governo. Entretanto, num sussurro sem razão, troçou, como se não assumisse inteira responsabilidade do que ia dizer:
— E. É. Eles são bonzinhos, mas na casa deles. Na dos outros, vá ver. Por exemplo, aqui mesmo, nesta República.
[55] E logo surgiam as dívidas externas do país. Enormes.
— Ontem, eram os portugueses. Éramos uma colônia. E hoje? Mudamos de rótulo, somos uma República. O capataz de fora tomando conta. O Jeca planta café... E a senhora, d. Amélia, vai por aí, de jirau em jirau, forrando a asa dos anjos que morrem e a esteira dos que nascem...
E, rapidamente, mudando de assunto:
— Uma coisa não faço neste mingau da política, é votar no Rui Barbosa. Muita sabedoria, psiu... mas um homem dos mais dispendiosos da nação, psiu...
Aparentemente desatenta, sem surpresas, ouvindo tranqüila aquelas informações do mundo, Amélia considerava que o Major tinha era paixão pela política, de todas as profissões a que mais queria. No entanto, fracassara. Por timidez, honestidade, orgulho? Não sabia.
— Seu Alberto, você tinha coragem de aceitar novamente ser candidato a intendente de Muaná?
Major coçava os cotovelos, sorrindo nas pupilas. Virava-se para todo lado, como a buscar ouvintes e afirmava, andando pela saleta, imitando pessoa manca, velho hábito seu:
— Em política, só quem tem... psiu. Olhe.
Aproximava-se de d. Amélia que tinha os olhos na costura, suspendia-lhe o queixo para que prestasse bem atenção e fazia o gesto que significava dinheiro.
— Isto somente... o resto é potoca.
De repente, uma dúvida.
D. Amélia até levantava os olhos da costura ou tirava do cabelo o charuto com que ariava os dentes. Major Alberto não deixava de acompanhar pelos telegramas aquelas coisas brabas e fabulosas que se passavam na Rússia. Mas entre aquelas coisas e a política do Pará como conceber a nítida diferença, ter uma noção? O que sabia das notícias russas era tão pouco e coberto de tanto horror. Na breve referência que fazia a isso, aventurava:
— Mas algo deve dar razão aos russos para fazer aquilo... Era um imperador sangüinário que estava lá... Muitos séculos... Mas a violência agora... Não posso aceitar das revoluções essa [56] fatalidade, a de serem violentas. E depois, até as princesas mataram!
Então, como se ouvisse o Major falar em crueldade e excessos, d. Amélia também aventurava:
— Mas, seu Alberto, excesso por excesso, hum! Crueldade, sempre tem no mundo e melhor será que seja feita pela maior quantidade que é o povo, ora esta. Por isso não acho nada demais o que fizeram os cabanos aqui. Foi ainda pouco.
Mas mataram meu avo no engenho. Minha família passou escondida em Belém sem sair durante o tempo do Angelim. Não. Podiam ter razão, mas a razão nunca é bárbara...
E os meus parentes e os caboclos mortos pelos correligionários de seu avô português? Que me diz? Ora, seu Alberto...
Então, Major recordava que, da parte da mãe, havia também parentes seus envolvidos com os cabanos.
— Tenho sangue caboclo, tu bem sabes.
D. Amélia movimentava a máquina. Major ficava pensativo. aí — E verdade, disse, que ainda não se pode entender o que vem
pelo futuro. Que os tempos mudam, isso eu sei. Mas quando chegará essa mudança a Cachoeira?
E noutro tom:
— Ainda tem daqueles beijucicas na despensa ou os meninos paparam tudo?
Alfredo, no soalho, entretinha-se ouvindo aquelas conversas de serão, longas, em que o pai confessava: se não tinha jeito, por vezes, de andar investindo contra o governo, também não possuía natureza para rastejar, de joelhos...
Uma tarde, Alfredo ouviu-o falar da sessão do Conselho Municipal de Cachoeira que reunia uma vez ao ano para ouvir o relatório do intendente e examinar os balancetes de receita e despesa. D. Amélia assistia à representação, feita pelo Major no chalé, da sessão dos legisladores municipais. Vinham estes de diferentes localidades do município, um do baixo Arari, outro do alto, aqueles dos centros, o resto era da vila. Entravam na Intendência, entre nove e dez da manhã, enfarpelados, peito duro de goma. Era o coronel Braulino, barbas de Pedro II, de casimira azul marinho, botões de madrepérola nos punhos; na ausência do dr. Bezerra, [57] por ser o vice-presidente do Conselho, assumia o governo da Municipalidade. Não fazia um gesto, não tocava um papel sem antes olhar ou ouvir o Major. Tinha as suas mil e tantas reses e uma interminável questão de terras no foro da capital. Quando ia a Belém hospedava-se no palacete do compadre, o dr. Coelho, um ex-governador do Estado. O advogado da sua questão, o Gurjel, tido como um dos sabiás do júri, também era seu compadre. Não se sabia ao certo se o Gurjel comia aos poucos o gado do seu constituinte, fazendo render a questão, ou se esta era mesmo difícil e dava o advogado, por isso, prova de dedicação ao seu compadre. Sabia-se, isto sim, que o coronel Braulino tinha orgulho da questão e do advogado, a quem levava barcadas de bois como honorários e lingüiças de presente. Major Alberto repetia sempre do coronel Braulino a expressão com que abençoava os afilhados: Delabençoe... Delabençoe... E o secretário acrescentava: Estranha figura gramatical essa que come a palavra Deus. Uma elipse digna de excomunhão.
Seguindo o coronel, entrava para a sessão um negociante de pluma de garça, peixe e couros, insensível ao calor de sua casimira escura, o Piassoca. Considerava o Conselho como uma trapalhada na sua vida por obrigá-lo a enfarpelar-se, mas fazia sempre questão de reeleger-se. Logo vinha o Garça Molhada, vogal perpétuo, com as suas botinas perpétuas, a tosse ruidosa, antigo caçador de onça. Deixava, excepcionalmente, naquela manhã, de matar o seu bicho no Salu e trazia, por pura formalidade, uma coleção antiga de Diários Oficiais que sempre esquecia na Intendência. O Milico, marchante da vila, dava a sua presença, metia as patas no salão como o jumento perfeito, dizia o Major. Atrás do colega, com um “bom dia”, tão vagaroso que parecia saborear, chegava o José Uchoa, empreiteiro de obras, inclusive da Matriz, que eram eternas. Diretor de irmandades, tesoureiro da festa de Nossa Senhora da Conceição ia a Belém, em dezembro, buscar o padre e jantava com o arcebispo. O retardatário era o oposicionista, o Maciel, do antigo Partido Conservador. Baixinho, bengala e piteira, a sobraçar leis, trazia na pimponice a ameaça de objeçôes ou o pedido de exame dos balancetes e documentos. Didico, o [58] porteiro, também de paletó, logo que via o intendente assumir a presidência, tocava, por hábito, a campainha, como nas audiências do juiz. Ia até a porta da rua, campainha na mão, anunciando a sessão ao campo, às vacas que pastavam, e algum moleque que rodava um barril d’água pelo aterro.
Os vogais consertavam a garganta — Garça Molhada tossia ruidosamente — circulando o olhar, com solenidade, pelos retratos de intendentes e governadores nas paredes. Detinham-se mais um pouco na República, coroada de louros, que exibia, sob o véu transparente, os grandes seios cívicos.
Vestido como um explorador da África, perneiras rangendo e chapéu colonial, o intendente, o dr. Bezerra, apresentava o relatório. À medida que queria parecer solene, acentuava-se em todo o rosto vermelho uma malícia teimosa.
— Devo ler por inteiro? Ou... Estou ao vosso inteiro dispor.
“Não”, “não”, acudiam os vogais, alegando que o major, que redigira o documento, o iria imprimir e distribuir depois. Seguia-se a apresentação dos balancetes espalhados pelo Major, na mesa forrada de verde, entre canetas novas e tinteiros cheios que jaziam inúteis. Só o Maciel, piteira entre os dedos, espetava o nariz num e noutro algarismo, fazendo-se interessado, na iminência de uma dúvida ou de uma reprovação. Os vogais, que sempre abanavam a cabeça, aprovando, entreolhavam-se, voltavam-se para o dr. Bezerra, como se lhe pedissem desculpa por tão breve impertinência. Lavrando a ata por antecipação, o major Alberto, um tanto vexado apesar de tão habituado àquilo, dizia de si para si: que pantomima, seu Coimbra.
Maciel tirava o nariz dos algarismos, virava uma ou outra folha do relatório, puxava o lenço, enxugando o suor, era o cansaço da oposição. E fez o pigarro do consentimento, acendendo a piteira no fósforo que lhe estendia o intendente. E este, por uma consideração toda especial ao seu adversário político, enxugou com a larga folha branca do mata-borrão, a tão combativa e quase ilegível letra do Maciel. Didico, o porteiro, trazia o café. Um louvor unânime escapou dos vogais quando foi servido o prato de pastéis da mãe da professora. A possível vinda de um padre [59] efetivo para a paróquia, a chegada de uma cartomante, animaram a sessão. E enquanto conversavam, saboreando o moca, como dizia o Major, este acabava de encerrar a ata e a moção de congratulações ao intendente que todos assinavam. Maciel voltava a assinar não sem antes deixar bem claro que o fazia por simples consideração e jamais por princípio.
— E. E, meu caro Maciel, em matéria de princípios devemos ser sempre intransigentes, bem intransigentes, ponderou o dr. Bezerra, dando a sua palmadinha oficial no ombro do adversário político e citou uma frase de um parlamentar inglês na Câmara dos Comuns, que escutara, pessoalmente, na sua última viagem à Inglaterra. Eram dez e quinze da manhã. Didico tocou a campainha, anunciando o encerramento, naquele ano, dos trabalhos legislativos municipais.
Retiravam-se da sala, inchados ainda de solenidade, convictos de que o intendente lhes dera satisfação de seus atos e lisonjeados com o tratamento, principalmente com aquela citação que tanto os aproximava do Parlamento britânico. Dr. Bezerra poderia enganá-los, sim, mas tinha que tratá-los bem, compreender que o Conselho existia. Para isso vinham eles, aparamentados e cerimoniosos. Bezerra, afinal, era homem viajado, de ilustração, escutara, em pessoa, o grande Rui e foi, por duas vezes, recebido no Catete pelo Presidente da República. Quanto a Maciel, o oposicionista, escreveria cartas ferozes contra, murmuraria na casa de d. Violante ou com os parentes, que metera medo ao Bezerra, criara pânico no Conselho, ao requerer exame nos balancetes, exigir recibos, confrontar contas... E que, por fim, o intendente, chamando-o a parte, lhe rogou não fizesse tantos embargos, pois estava ali também para servir à oposição. Nunca o Maciel desejasse o seu lugar, que era de sacrifício e vexames, e o maior desejo dele, Bezerra, era safar-se dos miúdos compromissos e pífias conveniências de um partido no governo e rugir na oposição, com um companheiro da fibra do Maciel. Maciel, então, media a humildade de Bezerra, e, vá lá, punha o jamegão, mas sem antes retificar termos no relatório, criticar, advertir. Ah, quando quisesse estourar, lavar a roupa suja nos jornais de Belém! Tinha ou não tinha [60] o Bezerra na mão?
Ao saírem, o intendente oferecia-lhes charutos, perguntando-lhes pelos negócios, os barrigudinhos da família e a pedir a Maciel que prestasse atenção, desse a sua opinião sobre a banda de música, ao jornal, coisas tão essenciais a uma política de conciliação e entendimento.
Depois, no gabinete, dr. Bezerra alisava o curto bigode escuro, a calva viajada, falando com bonomia:
— Estamos aprovados, Major.
E logo generoso, como que temendo qualquer restrição do Major, e como se fosse tratar de um assunto que há tempo o preocupava.
— Mas, Major, estou às suas ordens. Afinal, o sr. nunca me pediu nada. Foi assim no tempo do primo Bernardo. Agora no meu.
Reconhecia que tudo ali naquela Municipalidade dependia do secretário e que secretário! Ele, Bezerra, viajava e nenhum receio, lá pela Europa, em instante algum, lhe enrugava a testa ou lhe tirava o gosto de ir ao can-can, à ópera e ao restaurante chinês. Major Alberto aqui estava, por ele puxando o Braulino pelas barbas monárquicas, secretariando.
— Devo-lhe tudo nesta administração, Major. Devo-lhe tudo.
E entre este e outro assunto, enfiava a pergunta:
— Afinal, Major, que espera o sr. do futuro? Com que conta? E seus filhos? A isso se chama um homem previdente, bem, Major? Vai fazer comigo o que fez com o primo Bernardo que lhe ofereceu tantas oportunidades nunca aproveitadas? Creio que há um limite para o escrúpulo, passou desse limite chega-se à soberba, que é um pecado, bem sabe. Por soberbia, muita gente está rio inferno, Major. Mas comigo, não, destronarei essa soberbia. Eu, meu grande distraído, o obrigarei a aceitar, a aproveitar. E aio me fará favor. Eu, sim, que lhe serei grato.
Major esperava as oportunidades. “Bem, dizia a si mesmo, vamos agora ver. Faça o oferecimento”. Mas o dr. Bezerra, sempre loquaz, falava da banda de música, do jornal, dos reprodutores suíços, do hospital onde curou a hemorróida, o teatro onde [61] ouviu Caruso. Como gostaria de viajar com o Major!
— O sr. seria um ótimo companheiro de viagem, Major. E sei que aproveitaria muito mais que eu...
Confessava que as suas rendas não cobriam as despesas da família. Eram hipotecas, letras protestadas, a família exigindo sempre, passeando sempre, as filhas no Rio, as filhas na Itália, as filhas em Portugal.
— Tudo isto me tira os últimos pelos da cabeça. Não sou um fazendeiro de São Paulo. Sou um boiadeiro marajoara. Mas qual! A família não se conforma.
Tirava o chapéu, sentava, suspirando:
— Não tenho a sorte do Manuel Coutinho Filho. Aquele, sim... Desfiava a queixa, que não teria coragem de confessar aos amigos em Belém nem aos parentes no Rio e sim àquele secretariozinho municipal, cara de pároco, os olhos azuis lá no fundo, O Major escutava a confidência cheio de compreensão e um interesse que até perturbava o intendente.
— Minhas filhas querem manter uma vida de corte inglesa no Pará. Minha mulher alega que precisamos ter uma vida social à altura de minha posição como deputado estadual, como intendente, como quem instalou a eletricidade em Manaus... como irmão do deputado federal, como pai de moças educadas na Inglaterra, com outro irmão metido em comissões no Itamarati. Qualquer posição que um parente ocupe na Capital Federal...
— Lá na Corte... atalhou o Major, sorrindo.
— ... o resultado: gasta-se. Aí, meu Major, é que a porca torce o rabo. Aí é que estão os duros ossos de quem tem posição...
Puxou novo suspiro, abanando-se com o balancete aprovado:
— Ah, Cristo, como ando precisado de me meter num fundo de fazenda, aí pelo Goiapi, e ficar, cá entre nós, com uma caboclinha passando o cabelo solto por esta pobre calva nua...
Major Alberto riu alto.
— Não, não ria, Major. Ando cansado. Cansado da educação de minhas filhas, dos luxos de minha mulher, das honrarias que a família traz ao Pará... Quisera mesmo que o Tribunal desse ganho de causa à oposição e disso se aproveitasse o nosso muito leal [62] correligionário Lustosa para assumir as rédeas disto aqui. Queria que as artes do advogado e do negocista obrassem o milagre que não fiz.
E com voz baixa, sempre sério, quase suplicante:
— Quero um colo farto, Major. Um colo mesmo cheirando a bezerro, a peixe, e tijuco de beira de rio. Mas farto, mas macio, amigo meu!
Guardando os papéis aprovados, respondia-lhe o Major, mentalmente: conheço-te as manhas, ó desventurada vítima da família. Colos tens à farta nas tuas senzalas e me vens com um ar pedinte, meu sultão.
E já no chalé, perante d. Amélia, Rodolfo e o filho, recordava a festa da inauguração dos estudos hidrográficos de Marajó. Foi em Santana, antigo engenho de açúcar dos frades, na foz do Arari, refúgio dos “brancos” quando os cabanos ocuparam Cachoeira e agora propriedade dos Bezerras. Embandeiradas, numa breve confraternização municipal, a “Guilherme” e a “Lobato” foram, juntas, lado a lado ao meio da baía receber e comboiar o “Soure”, gaiola da Amazon River, que trazia o governador. Acompanhavam Sua Exa. o comandante da Região Militar, o arcebispo, o comandante do Arsenal de Marinha, o capitão dos Portos e a sociedade de Belém que dançava a bordo no baile fluvial promovido, com irrepreensível cuidado de seleção e apuro, pela senhora do dr. Bezerra, a d. Benedita, sempre louvada nos jornais por sua linha, suas iniciativas mundanas e piedosas. O marco inicial das obras pelas quais, na Câmara Federal, se batera tanto e por longos anos o irmão do intendente, foi assentado na ilha das Pombas, defronte de Santana, tida como fantasma, viajando pela baía, em certas noites altas como cobra boiúna. Ao lado da briosa da Brigada Militar não fazia má figura a banda municipal de Cachoeira e era o intendente, por isso, muito cumprimentado. Mas quando, na aproximação da cerimônia e no ardor da matinal dançante, começaram a estourar mais foguetes, mais champanhe e dobrados marciais, já andava o intendente pelo pedregulho do velho engenho, entre os coqueiros, às voltas com a d. Benedita para que não fosse ela arrancar da palhoça no mato e atirar na maré a [63] caboclinha, descoberta como a favorita do doutor naquelas redondezas. D. Benedita pôs de lado a direção do baile, a atenção à Igreja na pessoa do arcebispo, ao Exército, à Marinha e ao serviço do buffet, “copioso e a capricho”, como disseram depois os jornais de Belém. Empunhou a vassoura de açaí e avançou mato adentro pelo atalho da toca da Botão, que era o apelido da cabocla. Arriscou-se a atravessar o igarapé por uma estiva e de salto alto, suspendendo o vestido, logo bracejando em meio dos seus colares e pulseiras nos punhos do marido e a chamar cada nome contra aquela... Atrás dos miritizeiros e dos restos de paredão do engenho, as empregadas e crias da família espalmavam a mão na boca e cochichavam “mas ah! mas ah!”; pasmas com o que saía da boca da patroa. Os foguetes de Cachoeira encomendados ao Major, porfiavam no ar com os de Belém, espantando as “ciganas” no aningal. A banda de Cachoeira rebentava o peito para emparelhar-se com a briosa da Brigada. E foi preciso a intervenção do secretário, isolando o incidente da festa, varando atalhos e desapartando o casal, para que voltasse o intendente à cerimônia. Muito vermelho, uni risco de unha no pescoço, a roupa amarrotada e salpicada de lama, pôde ler ofegante, o discurso escrito pelo Major saudando o governador e trocou com Sua Exa. o brinde de honra ~o Presidente da República. D. Benedita, no braço do orador, enxugava a fúria no pó de arroz e sorria, voltada para o arcebispo que escutara o intendente, aprovando com a cabeça as passagens cristais. A noite, num intervalo do baile que prosseguiu no “Soure” e na varanda da casa grande, foi exibido o fogo do artifício preparado pelo secretario. De braço com d. Benedita, o intendente recebia, pelo sucesso dos fogos, do discurso e da festa em geral, novos cumprimentos. Cumprindo o encargo pirotécnico e enxugando o suor da calva, o secretário desceu à beirada do rio num ponto afastado das embarcações atracadas no porto, para verificar se o outro encargo, menos brilhante, havia sido também executado. Mandara despachar o “móvel do incidente” para um sítio a duas horas a remo de Santana. E viu com efeito, ao clarão do baile fluvial e à luz das derradeiras lágrimas de artifício, num casquinho subindo contra a vazante agitada, a caboclinha que ia so e remava, O remo, ao instante que saia d’água, reluzia. Noites seguintes, sentia ainda o Major o [64] reflexo daquele remo queimando-lhe o rosto.
Se em grande parte era verdade o que dizia a respeito da família e da sua situação econômica, o dr. Bezerra visava obter do Major a inteira segurança de que o serviria com aquela municipal honestidade, boa-fé e modéstia de sempre, sem contrariedades nem despesas. No auge das confidências, exagerava as decepções e os maus negócios, não só para desculpar-se de suas longas ausências de Cachoeira, de que tirava partido para provar que confiava cegamente no Major como para demonstrar ainda que vale melhor a pena ser um homem de bem, sem os encargos da riqueza e da política. A do Major, por exemplo.
Mas quantas vezes, o Major, se embalando na rede, não concluía: “Eu me julgo melhor que esse homem. Trapaceia comigo”. Também uma reflexão, pérfida, se insinuava: “Mal por mal, não era melhor ser dr. Bezerra”?
Embora em certas ocasiões o considerasse cínico, não ocultava a sua simpatia por aquele homem que falava inglês, doutor em eletricidade, manifestava algum desejo de administrar, o que constituía milagre. Dr. Bezerra falava em obter o telégrafo, trazer uma fábrica de gelo para o pescado, levar avante os serviços hidrográficos que pararam, calçar o aterro entre a intendência e a igreja, erguer dois cata-ventos para água potável, comprar novos instrumentos para a banda e instalar sob a direção do Major, uma foguetaria municipal. Era tudo por efeito de viagem recente à Europa. Diante do Major, passava e repassava o intendente cheirando a Paris, a lago suíço, a primeira classe da Mala Real Inglesa. E esquecido da administração e dos projetos, contava o que viu da Amazônia no Museu de Londres, os puros-sangues nas coudelarias inglesas e como beijou a mão de Sua Santidade o papa.
Major Alberto ganhara do seu amigo um presente anunciado antes com solenidade:
— Major, eu lhe trago da Europa algo que... Vai ver. Não lhe digo. Está no “Bicho”. Mande o Didico buscar os pacotes. Uma novidade.
E o volume chegava no ombro do porteiro, alto e pesado: eram catálogos da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Desfilavam [65] no chalé, dentro da rede, amostras de papel a cores, lanchas a gasolina, armas de caça, porcelanas e penicos, anéis e frigideiras, relógios de carrilhão e móveis para castelos, tapetes e tratores, grandiosas oficinas tipográficas, bombas hidráulicas e kodaks, pó de matar rato e maravilhosas Virgens Marias.
— Seu Alberto, na rede, lambe as miragens. É assim que o dr. Bezerra põe um pipo na boca do nenezinho.
Era o comentário de d. Amélia na cozinha para o Rodolfo, ansiosa para ver o que havia de modas, louças e lençóis no presente do doutor.
Uma inflamação dos olhos obrigou Alfredo a recolher-se durante dias na saleta, como bicho de caroço. De olhos vendados, febril e atento a tudo, ante a ameaça da cegueira, imaginava ao pé da rede a irmã cega de Muaná. Sucediam-se cenas da doença e morte de Eutanázio misturadas ao fogo no camisão de Mariinha. Sofria agora também por não ver refletida no teto a água da enchente, ondulando como fumaça pelas telhas, gravando a imagem dos peixes e das plantas.
Fechava-lhe os olhos um maldito pedaço de pano preto, do mesmo pano que vestia de luto as pessoas de Cachoeira. Era do mesmo fumo posto pelo pai no seu chapéu de palhinha e no braço pela morte de Eutanázio. Alfredo tinha horror àquela roupa preta em que Lucíola se enfiou por morte da mãe e com o suicídio do irmão. Meninos de preto, em roupas tingidas nas cascas e raízes lhe davam a sensação da morte sempre presente. E para castigo seu, pela primeira vez houve luto, pela primeira vez, no ano passado, saíra um morto do chalé. Este acontecimento, recordado agora com a inflamação dos olhos doeu-lhe infinitamente.
Antes se vangloriava de não ter acontecido morte alguma no chalé enquanto nas outras casas, sobretudo nas palhoças, quanto luto! Se o paludismo não voltava, as feridas da perna secavam, se o desejo do colégio o exasperava menos ou se transferia para data indefinida, as mortes em Cachoeira, desde o tempo da influenza, [66] flagelavam o menino, deixando-o arrepiado de pressentimentos. Entre os recentes terrores e visões surgia-lhe Felícia; no caixão negro, com quatro pessoas e um cachorro, atravessava o campo no sol da tarde. Com a carga de defuntos, passavam montarias pelo rio, num ruído de remos que caminhavam com o dobre dos sinos. Ruído que continuava a bater no coração do menino e o fazia pedir, num pranto súbito, na cozinha: Mamãe me leve pra Belém. Quero estudar, senão eu morro.
Da janela do chalé, via cabeças e chapéus de pano, cabos de remos na correnteza que os levava para a incessante plantação de corpos naquela terra encharcada.
Diziam que, no velho cemitério da vila inundado, os caixões boiavam. Por certo, os cadáveres saíam pelo portão, dispersavam-se pelo campo chocando-se nas cercas do dr. Lustosa. Procuravam voltar às suas casas batendo embaixo do soalho, ganhando o rio, rodando no redemoinho da corrente, atacados pelo cardume das piranhas, enrolados pelos sucurijus, repelidos pelos jacarés. Encontravam botos que se afligiam para salvá-los e se esforçavam em atirá-los no mangal da beirada. Alfredo tinha a visão colada no pano preto dos olhos. Toda a água que inundava o campo, rodeando o chalé, era água de cemitério em que boiavam as almas.
Alfredo ouvira Rodolfo contar o que sucedera a Felícia. A desenganada, vela na mão, falou em levar o seu crucifixo, a estampa dos arranha-céus que tinha na parede. Coitada, era delírio, pois os arranha-céus e o crucifixo desapareceram quando a barraquinha dela foi incendiada por Dionízio. Soube-se depois que um velha cabocla de sítio encontrou um resto carbonizado do crucifixo. Este, conforme maldou Rodolfo, iria adquirir sabe lá que poderes nas fazendas, roças, margens de rios.
Agora, de olhos escuros, Alfredo indagava a si mesmo: Felícia também boiava na cova? Navegaria atrás do crucifixo, gritando pelas beiradas o nome de Dionízio? Era uma imagem que o menino não esqueceria porque estava ligada à cena em que Felícia apareceu no chalé. Dionízio bêbado lhe havia incendiado a barraca. Pedindo socorro ao Major, ela subia os degraus da escada do [67] chalé, chamuscada e ensopada, depois de ter atravessado a enchente, arquejando, as pupilas como arrancadas pelo terror. Mal podia falar, a mão tremendo no peito e na queimadura que lhe sangrava no braço. Alfredo via nela uma espécie de meio mulher meio bicho, causando nojo e piedade ao mesmo tempo. Junto, enxugando-a, d. Amélia, para espanto do filho, chorava. Alfredo compreendia que a palavra “infeliz”, murmurada pela mãe naquela hora, tinha uma significação mais medonha do que pensava. Pois infelicidade era também estar morto e boiando naquelas águas tão espalhadas no rio e nos campos. E assim, de súbito, colou as mãos no rosto a pensar em Mariinha. Não, Mariinha viveria, crescida, dançaria nos bailes da Intendência, riscando o nome dos carnes feitos na tipografia do pai. E Eutanázio? Este, com efeito, rondaria a casa de seu Cristóvão, a espiar atrás das bananeiras se Irene descia para o quintal. Em noites de pesadelo, o menino via, de bubuia, o cemitério, de velas acesas, navegando nos campos, descendo o Arari. Era a cidade de pés juntos, iluminada, na direção do lago onde os mortos lá no fundo pudessem enfim sossegar.
Essas morres até então passsavam de largo pelo chalé, como as lanchas no rio. As vezes, ameaçavam, como que batiam à porta, afastavam uma telha do lugar a espiar Mariinha nas noites de febre. Para Alfredo o espantalho contra as mortes era sua mãe que sabia proteger o chalé. Via naqueles braços um poder de curar que não via em outras mulheres nem nos médicos lá em Belém, ou que passavam, tão raramente, nas lanchas dos fazendeiros. Em seu chalé, a vida estava íntegra. Isto o separava das outras casas de Cachoeira. O chalé era apenas um barco encalhado, à espera de maior inundação para poder seguir e nunca mais ancorar naquele porto. Exibia o privilégio de não ter um nome naquele poeirento e insaciável livro dos mortos do tabelião Farausto.
Mas a morte de Eutanázio encalhara para sempre o chalé naquele chão. As raízes do cemitério atingiram-lhe os alicerces, prenderam a sua ancora. Seus tripulantes e passageiros estavam agora submetidos à5 leis daquele porto. Daí em diante não podia se vangloriar mais. O cemitério alcançara a última casa que o desafiava.
[68] Alfredo sentia-se igual aos moleques de pé-rapado que lhe falavam de seus mortos. Contavam do sentimento dos pais e parentes, chegavam mesmo a imitar-lhes os soluços, gritos, as caretas. Os defuntos, contava Danilo, vinham passear nas noites sem lua, sabe lá com que saudade do acari assado na brasa, de um trago de cigarros, da tarrafa pendurada no esteio, daquele cheiro de peixe que impregna as barracas e as pessoas. Voltavam mesmo?
Alfredo, de olhos vendados, ouviu, em noite recente, a discussão a propósito entre o pai e um doutor chegado de Belém.
O pai retirou da estante os livros de Flamarion, escutou do doutor coisas da Bíblia, riu dos espíritas, leu um título de livro Força e Matéria. Tudo ficou muito embrulhado na cabeça do menino.
Voltavam ou não voltavam?
Para os seus companheiros moleques, os defuntos só faziam esta diferença: tinham-se mudado para o cemitério. Danilo afirmara: voltavam. Mas nenhum moleque nem Danilo seria capaz de puxar conversa com um deles. Não sabia ao certo se a mãe gracejava quando falou na cozinha a Rodolfo sobre a possibilidade de Eutanázio aparecer no chalé e ficar escrevendo horas e horas na saleta. Que escreveria o fantasma? Cartas a Irene, naturalmente.
Uma visita, na tarde mormacenta, o afastou daquelas visões e terrores. Era Lucíola, trazendo em sua companhia uma menina muito calada, de olhar aceso para o doente.
Lucíola tentou levantar o pano preto e examinar os olhos do menino que não permitiu. Naquela cegueira, os olhos pregados, dolorosos, o chalé abafava, as coisas adquiriam formas agressivas, os passos no soalho estrondavam.
A visitante passou algum tempo ao pé da rede, tímida, silenciosa — há quanto tempo não o via de bem perto! Olhava-o, reconstituindo os anos em que pudera entreter-se tão carinhosamente com ele, a ponto de querer tomá-lo da própria mãe. Por uns instantes só, desejou que Alfredo ficasse ceguinho para poder guiá-lo.
A erisipela, o suicídio do irmão, a solidão da casa velha, o rápido crescimento daquele menino que vira ontem nos cueiros e [69] agarrado à sua saia, tornavam-na prevenida, taciturna, embora dócil e ardente ao primeiro movimento que Alfredo tivesse para chamá-la.
Junto de Lucíola d. Amélia insistia que a doença dos olhos do filho não era nada. “Nessas coisas a gente nunca deve dar espetáculos”, sempre dizia. No entanto, a possibilidade da cegueira consumiu-a nos primeiros dias. A filha menor do seu Alberto com a primeira mulher, não ficara cega? Seus cuidados foram grandes, mas silenciosos e enxutos. Por fim, o doente melhorava. Ela afirmava que a fumaça das lamparinas quando cosia, à noite, com o filho no colo, tinha estragado a vista do menino. Lucíola falava que fizeram promessa a Santa Luzia e tinha uma vela acesa dia e noite no oratório para a imagem.
Agora, na rede, Alfredo revirava-se, suando, o pano preto queimava-lhe os olhos. A visita de Lucíola tornava-se importuna.
E a menina aí diante dele, calada, sem mexer-se na cadeira, por que vinha visitá-lo? Convite de Lucíola, jogo de Lucíola para lhe causar ciúme? Quem seria? Chamou a mãe e não perguntou o que queria perguntar nem pediu nada. Queria que a mãe espontaneamente lhe passasse a mão pela cabeça assim na vista de Lucíola. Com o sobrecenho, demonstrou o seu aborrecimento pronto para explodir. Nem Mariinha ali estava. Por que a cachorra Minu latia tão alegremente?
Lucíola compreendeu. Acreditava que o afastamento dele seria definitivo. Compreendeu também que os seus últimos encontros contribuíram para isso. Perdera a habilidade de entretê-lo ou não sabia renovar-se. Não tinha a diplomacia indispensável a quem queira tratar de meninos que crescem, como que de repente, ficando tão sabidos quanto os adultos. Realmente. Um dos últimos encontros não tivera bom efeito para intimidade entre os dois. Culpa sua, unicamente, refletiu Lucíola.
Alfredo ouvira o pai falar que o corpo da mulher tinha o talhe da palmeira. Absurdo. Seria medonho. Lucíola, por sua vez, para ir a um baile, casamento, batizado ou missa em dezembro, usava espartilho. Metia-se dentro de uma engrenagem de roupas incompatível com as palmeiras. Para tirar a limpo a sua dúvida, [70] inesperadamente visitou-a. Surpreendeu-a no quarto, despida. Ela deu um pequeno grito, tapando os seios com um pano de retalhos. O cabelo, que tentava, com a mão esquerda, sustentar no alto da cabeça, derramou-se pesadamente sobre o corpo inteiro. Logo, porém, baixou o pano e lançou o peso dos cabelos para as costas, abandonando-se numa intimidade que constrangeu Alfredo. Mas a curiosidade era maior que o constrangimento. O corpo da mulher tinha a brancura das galinhas cozidas. E foi nesse instante que ela lhe disse num timbre de ressentimento:
— Você bem que podia ter-se criado nestes seios Fredinho. Um calafrio trespassou-o. Surgiram-lhe no pensamento aqueles peitos cheios e escurinhos da mãe que espirravam leite em seus olhos no tempo que amamentava Mariinha. Fugiu.
Agora em seus olhos brotava aquela nudez de galinha depenada. Lucíola se despediu. A menina estendeu a mão, esticou a beira da rede murmurou um “adeus” que foi para o doente uma carícia. Quis tirar o pano, descolar as pálpebras, abrir os olhos que doíam.
Distinguia bem o andar descalço da pequena, os pés no soalho liso-liso.
Lá fora o vento arrancava a menina do chalé, levava-a nos seus ombros sobre o rio, os redemoinhos no campo, os arco-íris.
Embalou-se, embalou-se, chorando silenciosamente até que veio Mariinha.
— Que tu tem, hein, seu bobo, tu vais ficar cego só pra não ver mais os pedaços de queijo da despensa. Só eu que vou ver. Fique cego pra doce, pra banana, pro mel...
E seus dedos miudinhos se enfiavam nos cabelos do irmão.
Alfredo pensava na misteriosa e tão calada visitante. O vento arrebatava a menina, soprando-a para longe, quem sabe se na embarcação de Danilo e para que não voltasse nunca mais?
Quando d. Amélia desceu para o quintal, de tamancos, suspendendo a saia sobre a lama e enfiou a cabeça entre as estacas para ver a horta destruída e tomada pelo capinzal, Alfredo atrás [71] sentiu que era mesmo o fim das grandes chuvas.
E que súbita diferença no chalé! Já o fim da tarde, sem um gota de chuva, fazia o sol bater de cheio nas janelas da frente, que mar o caruncho da escura parede da casa grande do coronel Bernardo, dando um tom macio e reluzente nos matos, casas, rostos. E entrava na saleta para refletir-se nos vidros da estante, embebendo os punhos das redes no quarto aberto e lavado.
Os efeitos da morte de Eutanázio passavam inteiramente. A visão de Mariinha se queimando e o pano de luto nos olhos de Alfredo iam com as águas no rio que baixava. Novas ilusões de colégio no menino dissolviam os últimos desenganos. Mariinha conversava com os passarinhos pousados na cerca, que vinham anunciar o verão. Danilo não podia mais navegar nos campos nem encostar a montaria ao pé da escada do chalé para trazer gogós, taperebás e histórias. Defronte do chalé, à beira do rio, a boa árvore, a Folha Miúda, se enchia de pássaros desconhecidos.
A “Lobato”, subindo o Arari, apitou, quase sem fôlego, na curva do estirão que desemboca à vista de Cachoeira. A seu reboque lento, contra a vazante, barcos passaram, de dois mastros, depois canoas de um só, pintadas de novo, velas enroladas, cheias de gente acenando e gritando em cima dos toldos. Um novo apito e pessoas corriam para o trapiche. E atrás da fila da embarcação, por estranho que parecesse, vinha uma igarité de vela içada, azul, de um azul que mal se distinguia do azul largo e denso que era aquele primeiro céu de verão. Outro apito de lancha, alguém no trapiche desatou o laço de jornais, a mala do correio desembarcava, eram catálogos para o Major.
D. Violante de rosto em cima, ajeitava os óculos, à janela, mandando o filho recolher o corte de brim que enxugava nas estacas da cerca em meio de um maracujazeiro em flor. E logo um jornal caiu na mesa da máquina de costura, cheia de noticias do mundo, completando o verso em Cachoeira.
Alfredo olhou os campos, como se visse algo muito além, acima mesmo do seu próprio entendimento. Quem escutaria o seu instinto, a massa obscura e já efervescente de seus sonhos e desejos [72] que o verão despertava? Tinha um olhar inquieto, o rosto ao sol, o coração distante. Queria saber o que significava a vela azul da igarité, içada sem nenhum sentido. Foi ao trapiche ver de perto. Lá estava Danilo, apalpando a vela que descera, abandonada sobre o toldo, não enrolada ainda. Então Alfredo sentiu a paixão de Danilo pelos barcos, pelo ofício de navegar. Também Danilo queria viajar, ter um estudo, dirigindo velas e lemes, no colégio da navegação. Aproximou-se do rapaz — pois Danilo lhe pareceu mais crescido, mais alto, quase homem — e lhe pousou a mão no ombro, como se ambos fossem confidentes de uma mesma ambição.
Voltou sozinho.
Ficou da tarde uma claridade longa, cheia de odores, vozes, nuvens baixas que se derramavam, vermelhas, no poente como longos cabelos desatados.
Vinha a noite, noite de verão, d. Amélia cantava. Na mesa da saleta, Alfredo encontrou o pai a escrever, que escrevia? Cartas ou endereços para os Estados Unidos, França, Suíça, Alemanha e Inglaterra, pedindo catálogos? Ouvia-se a caneta cair no tinteiro como uma torneira pingando, de leve e continuamente. Quando escreveria o pai a carta que o mandasse para o colégio?
De repente, um chamado lá da cozinha. A voz de Mariinha, num tom de censura, que lhe tocava o coração, como a última exalação da tarde.
— Mas, maninho, o querosene. Tu te esqueceste hein? Senão vai ficar tudinho no escuro.
Trazia a garrafa para o irmão que logo correu, em silêncio, na direção do Salu.
O que confirmou o fim das grandes chuvas foi a desmanchação da ponte que se improvisava da escada do chalé ao aterro da rua. O aterro seguia, estreito e enlamaçado, passava defronte da Intendência, desembocava no largo da Matriz. Para levantar e desmontar a ponte, a iniciativa partia de d. Amélia. Logo que as primeiras grandes chuvas começavam a engrossar o rio e a inundar a parte mais baixa da vila, d. Amélia chamava o Dionízio, Luiz Filho e outros que iam ao mato tirar forquilhas para a armação. [73] Major Alberto, impaciente, observava-os da janela.
— Estão rendendo a obra para ganhar mais almoços. Como se eu fosse fazendeiro. Um inverno desses, serei eu ainda o construtor da ponte.
E como encarasse d. Amélia, que mordia os lábios, disfarçando riso:
— Não? Pois veremos. Veremos.
D. Amélia fingia ar de espanto, de olhar crescido sobre ele:
— Uai, eu falei? Uai...
Ela mandava aproveitar o trilho de ferro da pontezinha que ficava durante o verão sobre a vala defronte do chalé. Era um trilho da velha draga, ligado a uma imprecisa recordação de Alfredo. A draga cavava o rio, depois foram suspensos os trabalhos. Lucíola, uma vez, explicara-lhe, num tom que tinha para o menino o encanto e as imprecisões de uma história inacabada:
— Meu filho, o rio estava secando e coronel Bernardo mando buscar uma draga para cavar o rio, senão os barcos e as lanchas não passavam mais. Dragou, dragou, tirou ossadas de índios fundo e depois, como tudo em Cachoeira, a draga parou. Foi jogada ali noutra margem que você está vendo. Tiraram a máquina, a caldeira e ficou foi só a armação de ferro velho.
Alfredo virava Lucíola em locomotiva de corpo nu e fumegante, puxando a draga pelos trilhos no campo. A cabeça era a chaminé com a fumaça dos cabelos. Um lagarto verde e gordo roscava-se nas rodas de ferro. Muitas tardes, Alfredo compunha para a moldura da velha draga uma paisagem particular. As árvores que via, junto da beirada, destacam-se das outras e horizonte, com uma dimensão íntima e vária, verdes como se alimentassem da infância da solidão e dos desejos do menino. atravessaria o rio, para visitar o lagarto e andar pela armação da draga, encantado e temeroso como se estivesse numa perna?
O pedaço do trilho que sua mãe aproveitava para a ponte merecia por isso a sua estima. Não o perdia de vista no meio das tábuas e forquilhas certo de que ele voltaria à pontezinha, mais comido de ferrugem, coitado. Também havia velhas tábuas [74] muito suas amigas que, passasse o inverno, viesse o verão, serviam sempre, lisas umas, outras roídas de bicho, que se deixavam pisar por tantos pés na lama, sobre a água ou na poeira, tábuas em que o menino quantas vezes, se deitava de costas, olhar nas nuvens.
Luiz Filho estendia as velhas tábuas soltas nos trilhos e experimentava-lhes a segurança, pisando fortemente na ponte que rangia e balançava, tremendo aos pés. Estava ligado o chalé ao continente. Os construtores subiam a escada, molhados, roxos por um bom gole, esta e aquela sanguessuga agarrada na perna.
Major Alberto, ao sair da Intendência, nos seus tamancões, sempre no seu paletó e gravata, andava cautelosamente nas tábuas que estalavam e fugiam na ponte meio movediça, no risco de pisar na ponta de uma delas e, tibungo! n’água. Então o secretario municipal condenava a péssima obra, invariável todos os invernos, feita pelos velhos cachaceiros e paga como “se fosse a construção de uma ponte pênsil na América do Norte”.
Uma diferença notou Alfredo durante a ponte no último inverno: não se ouviam, altas horas, os passos incertos de Eutanázio cego porque seus olhos vinham cheios de Irene. Escolhia as tábuas ao pisar na escuridão? E para o menino, aquela ponte no escuro tinha sido uma das suas aventuras mais sonhadas. Uma noite desceu da rede e caminhou até o meio. Que riscos, que perigos, que mar de escuridão atravessara!
No último inverno, pudera vencer todos os obstáculos da treva, inclusive o medo, e ficou junto ao seu trilho, de bruços, numa das velhas tábuas mais conhecidas, olhando a água. Esta se arrepiava alguns instantes, um peixe talvez, um sopro de vento, o vago reflexo das estrelas que pareciam brilhar mais por terem à sua disposição espelho tão tranqüilo ao pé de um menino.
Observou com estranheza que, na desmanchação da ponte, a mãe punha a cachaça nos copos, excitada, o olhar brilhante, fixo na aguardente que espumava.
Ao voltar da Intendência, trazendo, com a notícia da vitória do dr. Bezerra, a segurança de seu emprego, o major Alberto não encontrou mais a ponte. O trilho reassumia já o seu lugar na [75] estiva das duas velhas tábuas sobre a vala por onde o Major passou, ralhando com Mariinha. A filha descera ao pé da vala, e a medo, de leve, a sobrancelha crispada, experimentava pisar o chão verdoengo que boiava da enchente morta.
Noutra tarde, Major Alberto desceu a escada da cozinha com um pacote na mão, era a encomenda das sementes para a horta. As galinhas, que restavam do inverno, corriam olhando para o pacote, feias e arrepiadas como urubus velhos. Alfredo desceu o quintal e foi ver Danilo curar o bezerro cheio de bichos. Mariinha gritava como uma marreca selvagem. O menino foi até a porteira do cercado. No chão, macio como pele de recém-nascido, crescia uma cabelugem de capim com restos de mururés e batataranas. Que bom os pés nus na terra depois de tantos dias no chalé, tantos dias de solidão e pano preto, em que se encolhia como um embuá. Que delícia ver a terra desalagada, se enxugando.
Os pés deixavam marcas naquele chão que cedia ao pisar, as marcas secavam ao sol. Gravava a palma de suas mãos em alguns trechos do quintal, colhia o barro como se colhesse frutas.
Pôs-se a moldar bonecos, gostaria de fazer uma estátua semelhante à que viu no Dicionário Prático e Ilustrado. Ouvira seu pai falar em bronze fundido, em mármore — quando veria o mármore? — em pedras que serviam para imitar deuses, animais e anjos. Tentou esculpir Eutanázio, mas saiu um monstro. Quis reconstituir no barro a imagem de Clara — do barro se faziam as santas também — e nasceu um espantalho. Difícil a arte do barro. O dom estava nas mãos. E suas mãos nada sabiam.
Contudo resolveu moldar um boi e assim levou algum tempo neste trabalho, gravemente, junto ao poço, enquanto crescia o capim rente do cercado e morriam as últimas mas plantas do inverno.
Mas o trabalho cessou porque a seu lado, fedendo a creolina e a bezerro, estava Danilo, com o mesmo ar de navegante trazendo-lhe pupunhas.
Numa das viagens da “Lobato” pela madrugada, chegara um forasteiro. Ao ouvir palmas à porta do chalé, Alfredo [76] levantou-se, alvoroçado. Gostava de acordar assim quando cedo batiam visitantes, gente da cidade ou das fazendas. Viu amontoados no degrau um saco de borracha, a maleta de couro, um violão e a baeta vermelha. E andando pelo aterro, um rapaz alto, preto, chapéu de palhinha, olhava para o campo, o rio, as choupanas da rua de baixo. Olhava tudo com uma curiosidade divertida.
— Não me conhece, então? Não me toma a bênção? Mas estás crescido!
E entrou na saleta, com a sua bagagem, já o menino experimentava o violão.
— Mas não me conhece mais, não? Hein, menino sem memória? E onde estão os habitantes deste castelo?
Mariinha saltou da rede, espiou e logo voltou para o quarto, dizendo à mãe que tinha na saleta um homem preto-preto, mas por demais preto. D. Amélia deu uma risada, reconhecendo a fala, o riso, os largos passos do irmão.
— Mas como cresceste, Sebastião! Estás uma vara, rapaz. Um negrão, benza-te Deus. Mas que vieste fazer aqui? Que andaste fazendo por aí, me diz, Malazarte.
— Perseguido da Justiça, respondeu ele num tom lastimoso e logo a rir, abençoando e levando Mariinha ao colo. Veio depois o Major a quem Sebastião, com timidez filial, tomou a bênção.
D. Amélia abriu-lhe a maleta, o saco, examinou a baeta, averiguando as posses do irmão.
— Tu vais dormir na despensa, lugar de cacho de banana e preto. Vais vigiar os ratos. Mas que cabeça te deu para vir até aqui, desmiolado? Tu andas embarcado? Não estavas em Belém? Por que não foste para o sul? E perseguição da justiça ou de mulher?
Preparando-se para sair, major Alberto murmurava: um maluco. Mais um para o baco-baco. O pirão vai ser repartido com mais um membro da família. E se lembrou que lhe deveria confiar a guarda do gadinho do curral dos fundos. Uma idéia que o tornou satisfeito. Chegara a tempo aquele rapaz. O gadinho estava se desfazendo nas mãos alheias. O irmão de Amélia poderia tratar das vacas, curar bezerros, como pessoa de casa.
Mariinha e Alfredo, em torno do tio e da bagagem, [77] começavam a admirá-lo. E que altura e bonita voz! Era de um negro bem enxuto, bem lavado, o olhar contente, o sorriso carinhoso. como se penteava demorado defronte do espelho velho junto do oratório, pois entrava no quarto, íntimo, perguntando pelo tear em que a irmã fazia as redes, se o Major continuava lendo os jornais sentado no trono, no “coronel”. E a população no oratório, havia aumentado? A Santa Rita ainda não chegou?
— Ele continua namorando a imagem no catálogo.
— Eu te trouxe uma figa, Amélia. Ganhei na cidade.
Contou que estava com saudades da irmã. Havia passado alguns anos no chalé e não perdera o visgo daquele soalho. Passaria uns meses descansando de suas aventuras, trabalhos e viagens. Consentiriam?
— Mas se tu entraste sem licença, tu invadiste a casa, queres que te bote no meio da rua?
Alegremente cantando, com as pernas compridas em largos passos pelo quintal, encheu várias latas d’água no poço e se fechou no banheiro, longo tempo. Realmente, que copioso, que demorado banho, a ponto da irmã gritar da janela da cozinha:
— Ei, Sebastião, já morreste, te afogaste? Foi um rei da África que chegou? Estás virando muçu?
E reaparecia ele, toalha passada pelo ombro, a gritar com os periquitos que se aglomeravam no ingazeiro, a pedir à irmã o ferro de engomar e consentimento para ficar tratando das reses do Major durante aquelas semanas em Cachoeira.
— Quero aprender a arte da tipografia, disse, empinado, por puro gracejo, enquanto a irmã lhe mandava partir uma acha de lenha no quintal.
O menino foi descobrindo no tio as viagens, trabalhos desconhecidos, misteriosos elementos da água e da selva que constituíam toda a existência daquele preto, sorridente e jovem. Os tios, por [78] parte materna, viviam dispersos na Amazônia, e agora surgia um deles, o mais moço, de violão, pixaim partido ao lado, contando ao sobrinho o que este lhe perguntava sobre o mundo. E havia também no tio o ar de Belém, escutava nas suas palavras o rumor dos bondes, o apito dos trens, o movimento do cais, navios partindo.
Mas o tio começou foi lhe falando da pororoca da Caviana.
— Mas viu mesmo? A grande?
Era como se o tio tivesse conhecido um ente sagrado. Ah se lhe fosse permitido vê-la e ouvi-la, nunca mais lhe esqueceria a voz nem as suas três cabeças enormes abrindo as bocas de espuma para mastigar os matos da margem, partir canoas, revolver o fundo, virar navios...
E seu tio estava ali com os olhos e ouvidos cheios da grande pororoca, de que tanto falavam. A do Arari, tão zinha, a do Guamá, embora de bom tamanho, como diziam, não se podiam comparar nem de longe com a que estourava fabulosamente nas bandas da Caviana, naquelas regiões incertas e arbitrárias da Costa Norte. Alfredo achava que ela nascia da própria Caviana, daquelas fundas cavernas da ilha, imaginadas por ele. E a sugestão do nome da ilha dava ao menino uma vaga visão de ave vermelha, o bico preto, furando os olhos de um jacaré.
Sebastião falou-lhe do rio Juruá, lá no Amazonas, quanta lonjura. Viajara em navios gaiolas, coisa que o sobrinho nunca fizera. Apenas contemplava-os nas fotografias ou quando os viu em Belém, no porto ou naquele ano, com a chegada do “Ajudante’», em Cachoeira. O gaiola se arrastava no leito do rio, trazendo o governador.
Sebastião andara pelo Juruá, na mão do padrinho, um senhor mulato, de coração grande. O padrinho se aventurara de Ponta de Pedras para o Amazonas, dizendo que voltaria depois que tivesse extraído das vacas leiteiras do Alto Amazonas uma casa em Belém, uns juros no banco e o colégio do afilhado. Misteriosa linguagem do padrinho. Sebastião era nesse tempo um curumim entanguido, de olho rajado, meio preto, meio cinzento e manso que [79] nem jacamim. Seguiu o padrinho no rumo do Juruá. Quantas vezes ouviu do padrinho: “Vou tirar leite das vacas”. Até então não tomara conhecimento daquelas vacas. Um dia, o padrinho retirou o curumim das paxiúbas da palhoça e o levou para ver as vacas. E andaram. O menino principiou a dar sinais de cansado. O padrinho reparou e, a bem dizer, ralhou: Ora, mas se mal andamos? Tu não queres ver tirar o leite das minhas holandesas? Andaram até que o padrinho tirou o carnaúba da cabeça, limpou suor com a beira do chapéu, dizendo: chegamos. Aí o menino se admirou muito, sem contudo manifestar essa admiração. Olhava para o chão coberto de folhas, para o céu fechado pelas folhas, os lados que a folhagem forrava e era só árvore, e tanta e quanta arvore! Umas altas, descascadas, com que sangravam, mas um sangue branco e logo escuro. E por tudo uma escuridão verde chovendo das folhas e dos galhos. Mas onde estavam as vacas, que poder tinha o padrinho de ver as vacas onde só havia árvores compridas, cortadas de cima a baixo, com tigelinhas grudadas no tronco?
O padrinho não explicou nada. Sentado no chão, mordido de mosquitos, orelha cheia do zumzum dos bichos, o menino via o padrinho com a machadinha golpeando a árvore, a aplicar a tigelinha no tronco, tal como viu, uma noite, a sua tia aplicar a ventosa na barriga de um velho que gemia. Teve uma interrogação muda: as árvores não sentiam dor com isso, não parecia doer? Aquelas vacas nem mugiam e os bezerros onde estavam? Foi esta a única pergunta maldosa que fez ao padrinho. Os bezerros mamam à noite, trazidos pelo curupira, respondeu o seringueiro que acumulava na sua barraca muitas peles de borracha na intenção de descer as corredeiras e vender o seu produto a bom preço. Assim teria a casa, os juros e o colégio do afilhado. Sebastião não entendia porque o curupira... Então o tio falou que era, sim, o curupira, o vaqueiro daquelas vacas. Curupira, de dente verde, dava flecha encantada para o caçador que não perdia uma caça. Mas em compensação pedia ao homem um pedaço do seu fígado.
Aí, interrompendo a narrativa do tio, Alfredo lhe indagou:
— O sr. deu?
[80] — Mas o que, então, meu sobrinho?
— Um pedaço de seu fígado.
O tio abriu na risada e disse que sim, dera um pedaço de fígado ao curupira que comeu com o dente verde. Por isso mesmo, em toda a parte, mal bota a vista e mira a caça e logo esta vem caindo, mas vem caindo direitinha na sua mão ou a seus pés.
— Morta — morta?
— Mas não sou um caçador encantado? A flecha que curupira me deu não traz o encanto? E peixe, é capivara, é onça.
— Trouxe a flecha?
— Guardo dentro de uma bainha aí na maleta. Terei ocasião de mostrar ao meu sobrinho, disse o tio com fingida solenidade.
— Mas conte a história de seu padrinho. Ganhou a casa? E o colégio?
O tio suspirou como se o suspiro fundo fosse parar pelas distâncias do Juruá. Logo que principiaram as chuvas, o padrinho juntou a borracha e o afilhado num batelão e foi passar as corredeiras onde se alagou. Sebastião não se lembrava bem, era bem jitinho para ter um juízo bem cerro de tudo que sucedeu. Ouviu mais tarde contarem que o tiraram d’água, graças ao Santo Antônio que ia no baú. A imagem, de bubuia, rodava na correnteza, domando a cachoeira.
— E Santo Antônio, perguntou Alfredo, podia amansar a pororoca grande? Tinha tempo de puxar fôlego? Podia?
— Os santos têm bom fôlego.
— Podia amansar até cinco pororocas?
— Olha, meu São Tomé, assim dizem as crenças.
— Mas me conte como foi que Santo Antônio, feito de barro, boiou na cachoeira e amansou a água.
Sebastião não punha a sua mão no fogo pelos poderes do santo. Eram coisas da crença. Fosse de pau ou de barro, era um santo e o povo queria que os santos fizessem milagres. Era o povo que contava. O santo, por isso e por aquilo, salvou o padrinho e o afilhado das águas. As águas da cachoeira foram se amansando e o padrinho tomou pé numa pedra. Mas as borrachas foram-se embora na correnteza.
Perdida a borracha, o padrinho se apaixonou, de não levantar a cabeça. Pois havia caminhado anos naquelas estradas do seringal, defumando, contando as peles, moído de mosquito e febre, varado de espinhos e lá se foi tudo pela cachoeira abaixo. Tentou, depois, por desgosto ou por saudade da roça que abandonara em Ponta de Pedras, plantar tabaco que subira de preço naquela época. Chegou a fazer um roçado, mas uma tarde saiu com Sebastião, a caçar macaco. Da carne de macaco fazia isca de pescar. Atirou num macaquinho que deu um balanço longo numa ponta suspensa e comprida de cipó, salpicando sangue pelos ramos e desapareceu. Atirou noutro, o bicho fez uma tal cara de aflição, tão de gente, mas tão de súplica, que o padrinho vacilou no segundo tiro. O macaquinho fugiu. Sem uma isca para a pesca, o padrinho, a modo de um pateta, caminhou para a barraca onde uma pessoa lhe ofereceu um biribá. Mal abriu, tirou uma prova e foi passando a fruta para o afilhado. Começava a sentir qualquer coisa por dentro do corpo, a retorcer-se, a passar as mãos pela barriga, gemendo. Sebastião foi caindo no sono em meio daqueles gemidos. Quando amanheceu viu homens e mulheres estenderem panos numas tábuas para onde trouxeram o corpo do padrinho, uns carregando pela cabeça, outros pelos pés. Acenderam uma vela à cabeceira do padrinho, cobriram o corpo com um lençol cheio de nódoas. Por que? Sebastião perguntava a si mesmo. Que fizeram com o padrinho que não fazia um movimento, não olhava nem falava? Aproveitou um instante em que ele e padrinho ficaram sós, no jirau da paxiúba. Bateu no ombro do padrinho e disse, depressa e em segredo:
— Ei, padrinho, se acorde. Já é dia. Se acorde. O sr. não ia caçar?
Ficou olhando para a vela que, curiosa como o menino, se dobrava sobre a cara do padrinho oculta no lençol. O menino queria falar de suas indagações a alguém, mesmo que fosse a machadinha, as tigelas, as folhas de abade para o fumo que estavam ali perto do adormecido. Queria entender-se com o padrinho, sem atinar com aquele silêncio e aquele sono. Que mistério era então esse outro que fazia recordar o caso das vacas, o dente verde do [82] curupira, ou teria este tirado o pedaço do fígado do padrinho? Mas voltaram as mulheres e os homens dizendo que o padrinho não podia escutar, não podia acordar mais. Por que não podia mais? Aí não sabiam explicar. Esperou que todos saíssem novamente e foi suspender o pano da cara do padrinho, oh, lembrava-se bem, sentiu que o velho não podia mesmo nem falar nem se levantar, não podia mais tirar leite de suas vacas nem caçar macaco nem secar as folhas do fumo. O dente verde do curupira tinha lhe arrancado um pedaço do fígado. E viu foi sair do nariz do padrinho um verme, vivo, que rolou pela face, em seguida outro que atravessou o canto da boca. Ah, eles fugiam com pavor do que havia lá por dentro. E tentou espiar pelo nariz, pela boca entreaberta, pelos olhos, suspendendo-lhe a ponta das pálpebras, pelo buraco das orelhas, do lugar de onde saiu o pedaço do fígado, novamente pelo nariz de onde os vermes fugiam. Então o menino fez uma careta, os olhos se arregalaram, soltou um grito, sumindo no meio do mato.
Depois, juntou-se com uns seringueiros que vinham fugindo de um seringal brabo, uns com febre, outros com a perna tremendo, aqueles contando horrores. Andaram atravessando corredeiras, seringais, acossados por pium, sezão e fome. Um dia, saíram num rio largo. Atracado ao trapiche, carregando borracha, um navio apitava. Os homens caíram ao pé de um monte de lenha onde um gato cochilava, e dormiram, dormiram um sono de jabuti. Quando anoiteceu, depois que o vapor se foi, Sebastião viu uma lua saindo dos matos, primeiro como um olho de onça, depois subindo oleosa, que escorria no telhado do barracão, na gaiola pendurada na janela, nos esteios do trapiche agora altos porque a maré vazava. Um grito do urutaí atravessou a mata que se sacudiu, espantada. Por fim, um violão, na cabeça do trapiche, tocou. Sebastião foi se aproximando do caboclo que tocava. Só havia quatro cordas no instrumento. O caboclo, cor de ferrugem, cabelo empinado e duro, tinha no ombro feia cicatriz de uma luta com [83] onça. O pretinho espiava o caboclo que com tão gosto ia ponteando. Era uma admiração no guri: pois mão tão grossa, que brigou com onça, sustentou cedros, puxou canoa nas cachoeiras, tão pesada em cima das cordas, dedos tão brutos podiam tirar aquela musica fininha do violão? E tão íntima, falava tão delicadamente de uns sentimentos misteriosíssimos para o pretinho! O caboclo tocou, tocou e uma corda rompeu-se. O tocador, indiferente, continuou. Partiu-se nova corda. Ficavam duas apenas. O caboclo não se rendia, tocando sempre. Na sua teima, se todas as cordas rompessem, continuaria a tocar até que o instrumento voasse de sua mão. E como visse o pretinho tão embevecido, o caboclo passou-lhe o violão e fez sinal com a cabeça para que experimentasse tocar. Também com um sinal de cabeça o pretinho disse que não. E se viu, porém, com o violão em cima de seus joelhos sujos e magrinhos, o luar luzindo nas cordas partidas, como se estas soassem ao contato da lua. Com o dedinho roçou uma corda, corda fria, nem um som. De repente, entregou o violão a seu dono e saiu correndo, deu uma risadinha, achou uma alegria em tudo, saltando pelos toros de pau na beirada, descobertos pela vazante, pendurando-se pelos cipós, sentindo a selva, a lua e os bichos ao alcance de sua mão. E como uma rede branca suspensa entre as duas pontas negras do estirão o largo rio se embalava.
Já em Muaná um tio quis obrigá-lo a cantar no coro da igreja.
— Respondi que não e ele, por isso, me deu uma senhora surra! Fugi. Escondi-me numa canoa no porto. Quando dei por mim estava navegando nas águas da Caviana, na canoa “Boas Novas”, em companhia de uma missão evangélica. Como viajei pelos rios! Ajudava o cozinheiro. Aprendi a cantar. O pregador mandava encostar a embarcação de barraca em barraca, reunindo aquela triste gente seminua e amarela que escutava os cânticos e pedaços da Bíblia, comendo melancia à falta do comer.
— E aí então viu a pororoca?
O menino seguia os movimentos do tio que contava a história no quintal, imitando a pororoca.
— Vi a uns cem metros de distância da canoa. Três ondas em cima de nós. Aí “gritei”, mas só pra dentro de mim: Virgem Nossa [84] Senhora do Perpétuo Socorro, Maria concebida sem pecado (lá me lembrava de que estava num barco de protestante), Senhora de Nazaré, valei-me, que vamos mergulhar pra nunca mais.
Mas de repente as três ondas sumiram num funil lá do fundo e nenhum choque sentiu o barco, a não ser um estremecimento da cabeça aos pés dos que viajavam. Quando Sebastião abriu os olhos, lá subiam adiante, imensas, as três ondas levando tudo à frente.
A descrição curta, quase seca, do tio, desapontou Alfredo.
— Não era a pororoca, titio.
— Era a pororoca.
— Mas que tamanho, então?
— Cada onda? Tamanho deste chalé.
— Três chalés, então?
— Três chalés desembestando n’água.
— E por que o titio não botou rédea nas ondas e não montou nas três éguas da pororoca?
— Tu és maluco, é, hein, meu sobrinho?
— É parte sua essa de ter visto a pororoca. O sr. nunca é que viu a pororoca grande. Isso que o sr. contou nunca que pode ser a pororoca grande. Ver a pororoca grande é contar uma história, mas senhora história.
Sebastião amaciou o cabelo do sobrinho, abanando a cabeça. Contou mais de sua vida: ficara na fazenda Carmo, coração da Caviana. Ali, apanhava de corda, de relho, de umbigo de boi, para aprender a montar. Saltava no poldro, tombava, e o relho estalava-lhe nos joelhos, na barriga da perna:
— Aprende, negro, a montar. De novo, negro, monta.
Uma vez foi tanta a dor, a raiva tanta, que se sustentou no animal e fez a muxinga estalar em cheio no poldro brabo. Foi um fim de mundo. Os vaqueiros e o patrão gritavam:
— Bem na embigueira, negro! Bem na embigueira, negro!
Caiu do poldro, mas de pé, tonto, mas vingado, cavaleiro daí em diante.
Apareciam outros trabalhos: partir lenha, caçar, tomar a [85] bênção de uma velha que lhe respondia com um cascudo bem no meio da cabeça. Era a patroa. Tinha de lhe trazer o bacio, todas as tardes. A velha lhe agradecia com beliscões, apertando-lhe o saco como se quisesse capá-lo. Uma tarde, cego de dor, empurrou-a por um buraco do soalho, um rombo largo na varanda, e viu foi aquela carga fofa de cabelos, panos, ossos, gritos e gemidos se atolando lá embaixo. Fugiu. Chegou a Afuá, caçando tatus que comia assados na brasa. Ao ser ameaçado, por um sargento de polícia, d apanhar de palmatória, por um furto que não fez, saltou a janela da delegacia e voou. Escondeu-se no pirizal, atravessou um igara pé, ouviu cobra cantando, meteu-se num tabocal onde as onças dormiam. Semanas depois, era visto esfolando ombro de tanto embarcar lenha no navio “Cassiporé”, que fazia a linha do Oiapoque e de tanto embarcar caixas e caixas de caroço murumuru.
— Mas que tamanho o sr. tinha?
— Um pouco maior do que o sr. meu sobrinho, gracejou Sebastião.
— Deixe lhe apalpar sua mão.
O tio, rindo, estendeu a mão. Alfredo cerrou os olhos, segurando-lhe a palma grossa como feita de madeira, dedos cheios de calombos. Tinha o peso das viagens, dos trabalhos, dos sofrimentos. E quando o tio contou como caçava jacaré no Afuá, essas mãos pesaram mais entre as mãos do menino: os caçadores desciam dos cavalos, entravam no pirizal, sem se incomodar com os espinhos nem cobras. Surpreendiam o jacaré dormindo na lama, só o nariz de fora. Metiam a forquilha na cabeça do bicho, este escancarava a boca, logo dentro desta atravessavam um pau que a fera mordia; era o tempo de laçá-lo com corda de envira e arrastá-lo para o enxuto. A Alfredo era espantoso que o jacaré amarrado, com as patas viradas para trás, não lutasse nem se mexesse.
— E as cobras, titio?
— Sou curado, meu sobrinho.
Não contou, para não parecer pavulagem, que, ao matar uma sucuriju, tira sempre da cobra um pouco de banha crua e come. Falou das virtudes e artes do gavião cauré, com fama de fazer [86] ninho quando o ninho é feito pelas modestas andorinhas.
— Eu andava com pedacinho de ninho de cauré nos bolsos. Mas depois que soube... Não. Mas se o ninho é da andorinha? Ele se mete dentro do ninho alheio e faz a fama? Não.
— Mas titio, o sr. amansou o cavalo só por raiva?
— De primeiro, foi. Mais tarde aprendi que se reza a seda do rabo do cavalo e se enterra no fogão. Um instante, amansa.
O menino alisava o dorso da grande mão, suas linhas fixavam sombrias áreas de selva e de bichos.
No chalé, depois de tocar as vacas do curral, Sebastião passava a ferro o seu fato para os isguetes de sábado, ouvindo o invariável conselho da irmã:
— Tu cria juízo, Sebastião. Olhe, tu mexe numa pequena daqui e eu te faço casar. Mexe, mexe com as filhas dos outros. Experimenta.
E na verdade, as vizinhas vinham dizer a d. Amélia que Sebastião, embora negro-negro como a ave japu, mundiava as moças que caíam de olhos fechados no peito dele.
— Foi ferroado pela formiga taoca, d. Amélia. Por isso atrai mulher.
D. Amélia ria e logo ralhava; que formiga, que nada, era o fogo das moças. Puro acesume delas.
— Mas um tição desse? Ele não vai me demorar no chalé.
Pixaim partido ao lado, violão debaixo do braço, sapatos na mão, Sebastião voltava ao chalé, madrugadinha, e uma coisa não fazia: beber. Que cuidado para girar a tramela da porta dos fundos, com medo de acordar a irmã! Uma vez, acordou o sobrinho, que veio espiar, encantado. Era um tio de violão, o rosto mais escuro que a escuridão do corredor, belo, ferroado pela formiga taoca.
— Onde, titio, onde foi que a formiga lhe mordeu?
O tio quis levá-lo a um assunto impróprio, quis inventar, insinuar em que parte, como foi, ó formiga mais preciosa que a flecha encantada do curupira de dente verde.
Quando o menino apanhou o violão, o tio, de dedo nos lábios, lhe acenou que não tocasse, não fizesse um pio, que a dona
da casa podia acordar.
— Mas onde foi, então, que a formiga lhe mordeu?
O tio cochichou:
— E tu querias, meu sobrinho, que ela te ferroasse? Um dia?
O tio viu o menino baixar a cabeça, a modo de envergonhado.
— Pois eu vou procurar uma formiga taoca, meu sobrinho.
— Onde ela mora, onde faz casa? Diga a casa dela.
— Ó curiosidade, ó curiosidade.
Aquele mistério impacientou Alfredo. Sentia no colo, braço, cabelo do tio, o suor das damas e talco, azeite de andiroba, loção, baunilha, jasmim, todos os cheiros numerosos daquele sábado de isguete. Ele queria perguntar com quem dançou, o tio lhe pedia silêncio. E de leve, ligeira, a maria-é-dia bateu as asas na telha, piando-lhes: já é dia, já é dia.
O tio asseou com limão e sabão os sovacos suados do baile, encheu água da cozinha para a irmã, foi ordenhar as vacas.
O menino correu os dedos pelas cordas do violão, como se fosse correndo os caminhos do tio ou já estivesse partindo do chalé, longe, até o colégio. Depois, mão espalmada no bojo do instrumento, suspirou como pessoa grande. Ah, voltar do colégio, crescido e belo, e, à saída, no jardim, pousada numa flor, esperando-o, a formiga taoca.
O tio, no curral, conversava com as velhas vacas da família.
Alfredo, cheio de incertezas e apreensões, tinha que voltar à escola da professora chegada de Portugal. E sua mãe, que continuava a ter aqueles acessos e a dar gritos? Que estava acontecendo com sua mãe?
Olhava para o tio que não fazia um gesto, não lhe dava uma indicação. E quando Sebastião, num repente, desejou ir a Marinatambalo, subiu ao lago Arari, mais aflição deu no menino. Foi uma semana em que a mãe passou mal, mas que mal era, fechada na despensa, com um cheiro na boca e uns movimentos tão suspeitos? Alfredo temia que se confirmasse o que sentia, suspeitava, sabia. E ela a exigir-lhe que voltasse à escola, sem mais falar de [88] Belém, do colégio, da viagem...
Por que ter de ir novamente à escola e escola daquela professora que entrava na aula, como para um casamento, falando como deveria falar uma artista de teatro?
A escola era instalada na própria casa da professora. Sala de paredes descascadas, cobertas de fumaça; o teto sem forro, de telhas sombrias, arqueava-se sobre as carteiras gastas e aleijadas. Com a impressão da recente morte de Juca, o aluno mais velho, havia também um ar de luto em todas as meninas e meninos. Cadernos tarjados, professora vestida de mortalha, quadro negro como um ataúde, torrões negros na parede do corredor. As portas escuras mostravam o fundo enfumaçado da cozinha de chão batido de onde a cria de casa, a Coló, ágil e astuta, fazia sinais e caretas.
Vinha de lá de dentro também o cheiro dos pastéis e doces que a mãe da professora fazia para vender. O cheiro das meninas na aula seria do banho ou da idade? Entre elas, estava a de pestanas compridas dando sombra à face morena. A fala do grupo natalino “Borboleta”, saída de um cromo de folhinha, perdia o seu condão sobre o 2.º livro de Felisberto de Carvalho. Havia a Joana, rosto de lua, cachos de ouro, inteligente como um demônio. Alfredo observava-as, quase temeroso. Elas quase não davam pela presença dele, que ficava sumido, estranho às lições, à vivacidade delas.
A morte de Juca enchia a escola de um morno desgosto de estudar. Ao serem abertos, os livros bocejavam como os alunos, tão preguiçosos como estes. Redemoinhos de poeira entravam pelas janelas e excitavam as meninas de pernas suadas sem sossego debaixo das carteiras. Uma ou outra vez, furtando de sua madrinha, Coló atirava-lhes esta e aquela azeitona dos pastéis. O seu apelido era “Malagueta”, por ser muito esparapantada, pinoteando pela rua, cozinha e aula, cabelo na testa, olhar de marreca bem arisca. Na vizinhança, um velho papagaio soltava velhos palavrões que acendiam o olhar dos alunos, como se escutassem ali a única e verdadeira aula. A mesa, com o seu vestido tufado, diante do qual as meninas mal trajadas pareciam mendigas, a professora [89] exclamava, puxando os “esses” contra o sussurro da sala:
— Meninos!
E alisava no peito o broche, faiscante como um besouro, este e aquele dedo vigilante e cauteloso corrigindo um e outro fio de cabelo no penteado monumental.
Para Alfredo, que se rendia à sonolência e ao tédio, a professora virava um ser de giz, esponja e lápis, rosto de palmatória, orelhas de borracha, unhas de mata-borrão. E toda essa combinação de materiais escolares, pó de arroz e cabelo vestia-se, movia-se, falava!
O pior foi que o menino se deixou impressionar por certa insistência de sua mãe em falar nas cartas de uma esmerada caligrafia enviada pela professora ao major Alberto. Este, a princípio, surpreendido, não ocultou uma ponta de agrado, exagerando ao mesmo tempo o seu constrangimento ante as indiretas de d. Amélia. Com um ar de troça, ela tentava imitar a professora:
— Ai, major Alberto, creia-me... não habituei-me ainda a Cachoeira. O Major sabe, meus parentes de Portugal caíram na tolice de mandarem buscar esta humilde pessoa para passar uns tempos em Lisboa. O sr. pode perceber que devo estranhar... A mudança do meio. Acho esta cidade ainda agreste... Esta cidade...
Aqui, d. Amélia sublinhava, com zombaria:
— Cidade, estão me ouvindo? Cidade...
Estalava a língua para demonstrar pouco apreço e reproduzia a visita da professora ao chalé. Espiara do quarto pelo buraco da fechadura. Imitava-lhe o gesto, a voz, a cerimônia, os “efes e erres”, o inevitável “peço desculpas”, “mil graças”, “leve em consideração”, “creia-me” a “necessidade de chamar a atenção do sr. Vitor e família a fim de pôr cobro às inconveniências do desgracioso papagaio”, tudo isso num meio sotaque português que divertia o chalé.
— Muito delicada, educação finíssima, mas a roda a hora perguntando quando aumentam os ordenados, tão parcos, tão parcos...
Mariinha batia palmas e ameaçava:
— Vou contar pra ela.
[90] — Vai, vai, sua saliente, pulava Alfredo, olhando de revés para a irmã.
Que diferença entre sua mãe e aquele ser, de peças que pareciam facilmente desmontáveis como as do prelinho francês.
Major Alberto, arranhando a perna sobre a cadeira, fingia indiferença. Rodolfo abandonava a composição dos tipos e encostava-se à parede da saleta, o sorriso sob o bigode. D. Amélia simulava uma repentina seriedade e dizia numa voz lenta:
— Não esteja aí se coçando, seu Alberto. Não finja. É claro que não posso pronunciar bem as palavras dela porque não viajei em Portugal, não sou professora, não tive parentes para isso. Mas que você gosta, gosta. Não venha me dizer... E quando ela aparece lá na Intendência, toda entonada, hum! o major secretário, minha Nossa Senhora, só Deus sabe...
E enquanto o major Alberto fazia um muxoxo de impaciência e de contrariedade, ela enristava o dedo:
— E cuide de mandar meter o papagaio do seu Vitor e família na cadeia. Cuide. O mais engraçado é que o bicho não faz mais do que repetir tudo o que ouve, nos fundos, da própria mãe da professora quando faz pastéis. Os mexericos, os apelidos a todo mundo, os nomes, os segredos da vida alheia. Só sei de uma coisa. A professora quando está sozinha bem que deve gostar do desbocado. O papagaio conta tudo. Ao que parece, só conheço uma pessoa melhor informada do que ele e sabendo repetir melhor as conversas, é aqui o nosso ilustre Rodolfo.
— Aprendi com o louro, d. Amélia. O aluno saiu melhor que o mestre...
Major Alberto, então, intervinha, com a perna sobre a cadeira.
— Você troça, troça... depois isto se espalha, cai no ouvido da moça e aqui d’el rei...
D. Amélia voltava para a cozinha com Alfredo e Rodolfo atrás.
— Seu Alberto se dana... Faço isto só pra mexer com ele.
Era uma advertência a Rodolfo, o que não satisfez Alfredo, e logo acentuava, entrefechando os olhos num tom de graça:
— Pensa, então? Ele gosta. Fiem-se... Mas Rodolfo não vai bancar o papagaio por aí. Se falarem que eu disse isso, já sei que és [91] tu. Também Rodolfo, tu perdeste... Não tens mais um cuí de vergonha. Tua sorte é essa, criatura.
Rodolfo sorria e Alfredo sentia nele algo de um homem lisonjeado, na sua maledicência, esfregando as mãos.
Alfredo mastigava, calado, uma censura a mãe, observando, vigilante, o Rodolfo que procurava instigar ou investigar o que havia de verdadeiro naquilo. O menino olhava, com temor para os dois, lembrando-se das palavras do pai.
— E engraçado, continuava d. Amélia, destampando no fogão a lata de canhapira, cozido de carne feito no caldo dos frutos da palmeira tucumã.
— ... seu Alberto lê para mim as cartas que ela manda e guarda na caixa de envelopes. Lê mais de uma vez para descobrir, disque, os errinhos da professora. Eu só sei que, por qualquer coisinha, M chega o Laércio com o charão de pastéis na cabeça, trazendo uma carta, um bilhete e a correspondência aumenta.
E rindo, com o mesmo acento de fingida naturalidade em que tentava esconder um pouco de vanglória:
E dá prejuízo. Porque, justiça se lhe faça, a mãe dela sabe fazer pastéis. Que sabe, sabe. E quando o carteiro da professora aparece com o charão dos pastéis que vem vendendo, seu Alberto não se agüenta. E são quinhentos réis de pastéis. Talvez, quem sabe, para homenagear a futura sogra, não, Alfredo?
Rodolfo advertia:
— Olhe que é para vender o pastel... A mãe dela pede que ela escreva um bilhete e assim é pretexto para arranjar freguesia...
Esfregando o charuto nos dentes que, muitas vezes, à falta de pasta, areava também com carvão pilado, d. Amélia desvencilha-se das festas da Minu para dizer:
— Enfim, ele está vivo há muito tempo. Ninguém anda lhe empatando. Que arranje essa costela instruída. Que a professora assim como sai do quarto toda entonada pra aula, carregue também o bacio dele toda manhã, no inverno, como eu faço...
— Mas, mamãe.... censurou, afinal, Alfredo.
— Era ou não era um espetáculo?
— Eh, mamãe, eh! interveio Alfredo, já irritado. A conversa [92] humilhava-o. Sua mãe mostrava-se tal qual era, de fato, apenas mãe dele e de Mariinha. E a pergunta boiou em seu espírito, amarga:
— Somos ou não uma família?
Supunha que a mãe preferia, mesmo, aquela situação sempre interina, de intrusa e pronta a ser substituída. Não podia formular, quanto mais proclamar a situação humilhante: amásia, rapariga do Major, vivendo com o Major, mãe dos filhos do Major, cozinheira...
Sua mãe, ao que lhe parecia, pouco ligava que fosse esposa, senhora ou esposarana do secretário. E por que os seus gracejos a respeito da professora com tanta insistência? De certo modo, a condição de sua mãe dava a esta uma independência no chalé que o menino não sabia bem como explicar. Era a dona da casa sem ser a senhora, e duvidava que esta valesse mais do que aquela. Chegava a ficar convicto de que ela não queria outra coisa, não por humildade, por “saber o seu lugar”, nem talvez por orgulho. Quem sabe se não era por orgulho mesmo?
Alfredo não percebia ainda que sua mãe, sem ambições conjugais, nunca se preocupava com isso. Nascera entre ela e Major aquele súbito entendimento em que se misturavam atração das peles, filhos, curtas reações do branco, o amor próprio da preta, a enxuta solicitude desta e o discreto pegadio daquele. O resto era por conta do chalé.
O menino insistia nas suas indagações: que faltava para que sua mãe fosse uma senhora? Ir aos bailes? Assinar o nome do Major? A cor? Este era o argumento mais decisivo. A incompatibilidade brotava aqui, disfarçada, tacitamente aceita pelo Major, irreparável. Entretanto pai e mãe não queriam deixar transparecer isso, mesmo d. Amélia sentia-se muito bem naquela condição, ciosa de sua cor. E assim o menino mais uma vez se enganava.
Alfredo lembrou que o perigo estava na agravação dos recentes modos dela. Major esfregava a testa, a calva, abria os braços, espichando o beiço, entre os seus catálogos, num gesto de incompreensão sem remédio.
Rodolfo fingia apenas achar graça na conversa para melhor [93] provocar d. Amélia que sorria, já meio encabulada, por ter deixado escapar um fiozinho de ciúme ou de ressentimento. Afinal, corrigia ela, mentalmente, a professora era moça educada. Tinha algum mal que seu Alberto conversasse com ela, recebesse suas cartas? Ele passava semanas e semanas sem encontrar também uma pessoa assim. Estava certa, o Major, com o seu comodismo, o seu desajeito, a idade, não iria adiante se bispasse alguma intenção da professora, alguma entrada desta para... Não diria “namoro”; que nome daria, afinal que aconteceria entre eles?
Em face de suposição menos agradável, d. Amélia tentava desfazê-la, procurando ver o Major numa e noutra intimidade, tão suas, no chalé, que o tornariam ridículo aos olhos da professora.
É verdade que estava causando aborrecimentos a seu Alberto. Neste ponto, d. Amélia deixava de refletir, fugindo subitamente à discussão íntima de seu mais grave problema. Saltava por sobre a fenda que se abria cada vez mais e por onde escorria o seu sossego, o domínio de si mesma e todo o entendimento do chalé. E como para desviar as atenções do Major sobre o seu próprio caso, a sua “doença”, d. Amélia, nos seus melhores instantes, continuava a falar nas cartas. Assim poderia confundi-lo, fintá-lo na vigilância que principiava a exercer sobre ela. Colocava-o na defensiva e protegia-se, tentando ocultar a fenda que se alargava.
O certo era que major Alberto, na sua rede, depois da sesta, os óculos e os sonhos esquecidos no catálogo fechado, refletia. Por que Amélia insinuara? Que viu na professora para suspeitar?
Coçando a calva, levantou-se e abriu na estante a caixa de envelopes onde encontrou as cartas da professora enlaçadas inesperadamente por uma fita cor-de-rosa — artes, naturalmente, de Amélia e com que fim?
Meio oculto pela porta da estante aberta, cheirou furtivamente o maço. Nada sentia da exalação que vinha dos vestidos dela e que lhe lembrava um pouco e estranhamente o cheiro da lança-perfume. As canas em papel fino e impessoal, convencionais e corretas, exalavam apenas gentileza que era, quem sabia? Todo o móvel da suspeita.
[94] Certa manhã, na Intendência, a professora fora reclamar uma caixa de lápis, pelo menos meia dúzia, para a escola municipal. A conversação foi simples, sem qualquer intenção por parte dele. Entrou no gabinete, solicitou os lápis, convidou-o a visitar a escola, reclamou novamente contra as indiscrições do papagaio, curvando-se um pouco, num ar de cerimônia na despedida. Lisonjeava-o, de uma maneira traiçoeiramente inesperada. E como noutra manhã., em que fora reclamar esponja e giz, fizesse elogios à “instrução” do Major, uma teimosa sensação de vaidade, como um calafrio, percorreu por inteiro o secretário. Foi, não resta dúvida, um momento de quase inquietação, quase. Quis, num sábado, saindo de seus hábitos, visitar a escola. Conteve-se à porta da Intendência ao olhar as três janelas do chalé ao longo da rua e que pareciam espiá-lo.
Mais tarde, conseguiu um auxílio municipal às “regatas” que a professora organizara, pela primeira vez, em Cachoeira, só para moças. A carta de agradecimentos foi motivo de troça infinita por parte de d. Amélia, que ridicularizou as “regatas”, descrevendo, sem ter visto, o espetáculo das montarias apinhadas de moças, fazendo de conta que remavam em ides e baleeiras. A professora, alta, com o leve desvio da espinha, o chapéu branco sobre o vestido azul que era o traje das remadoras, dirigia a festa, empunhando o guarda-sol e o estandarte das regatas, a extensa boca pintada num riso polido que descaía em falsete.
Major Alberto assistiu aos páreos no velho motor municipal, que voltara enfim do conserto. Explicava:
— O lugar, psiu, não era próprio. Aquela enseadinha rasa... A professora caiu n’água, de sapatos e estandarte, para empurrar a embarcação.
D. Amélia aí ergueu as mãos, fez uma cara de lástima em que seus olhos riam:
— E onde você estava que não foi acudir? Mas que cavalheiro esse...
Major dava um repelão, caía na rede, gaguejando:
— Está-se falando sério... e vem... com... com...
Passava daí em diante a responder à professora lançando mão
de certas frases que pudessem melhor revelar o grau de seus conhecimentos. Fez isso um tanto confusamente, acabando por [95] envergonhar-se consigo mesmo. Ousou ate mesmo uma citação latina. Mas riscou-a. Desafiava-a para uma competição que era ao mesmo tempo como um jogo de olhar ao sério entre duas pessoas que se fitam sem piscar e que e muitas vezes o treino para outro jogo, este sério de verdade.
Pensava, embora sem clareza, que aquela situação, tão fluída, substituía um pouco o vago expediente da Intendência, a ruminação dos catálogos, a eterna expectativa de aumento do ordenado, as raivas e o desgosto ante o que se passava de inexplicável no caráter de Amélia. Pelo menos, para o espírito, que amolecia e embotoava, era um bom exercício., Ou para o coração? Quanto a isto, não tinha susto. Saberia conhecer a sua idade e prevenir-se contra as fraquezas desta. Mas divertia-o aquele jogo de cartas, sentindo-se menos velho do que pensava, como criança quando encontra, esquecido no bolso, um pedaço de doce.
É claro que a professora não percebia, ou fazia isso por cálculo para divertir-se ou atraí-lo e levá-lo ao desfrute? Talvez achasse incrível que ele vivesse com Amélia e pudesse esta compreendê-lo. Que importava? Se ele mesmo quase não percebia e não consentiria em ir mais adiante? Aí estava o obscuro encanto.
E como d. Amélia persistisse nas suas indiretas, major Alberto via-se valorizado, indagando se não seria isso uma maneira de reconduzi-la aos velhos tempos do chalé.
Chegara a avançar mais do permitido, na realidade, exagerou as insinuações e o ciúme de Amélia, como as intenções e a gentileza da professora. Quando deu por isto, compreendeu, era o ar dos 60 anos que se aproximavam. Enganou-se também quanto à solução das crises no chalé, que se agravaram. Mas não se traiu. E aos poucos foi acolhendo com displicência, talvez calculada, as atitudes da moça, embora a correspondência prosseguisse em torno de vagos assuntos escolares. Divertia-se com as apepinações do papagaio, criticava agora o pedantismo de certas expressões, o exagero da delicadeza, cotejando o estilo das cartas com o seu. Uma [96] ou outra dúvida de linguagem e logo suas onze gramáticas o socorriam.
Descalço, na saleta, andando de lado a outro, fingindo-se manco, exclamou, uma tarde, para a Minu que era a única criatura que o escutava:
— Quer exibir-se, psiu... Exibe-se nas cartas e nos enfeitinhos. Mas a minha vingança é o papagaio.
Alfredo chegara a violar o maço das cartas e acreditou em algo que não via nitidamente, mas parecia borbulhando naquelas palavras corretas, na insidiosa letra da professora, no coleio do A maiúsculo, as entrelinhas da sem-vergonhice com que a professora queria ocupar o lugar de sua mãe. Sua mãe era esposa de uma outra natureza que não se substituía nunca.
Aquele contraste entre o negro e o branco tinha uma recomendação para o destino de Alfredo, pensava este obscuramente. Era um mistério — como se conheceram, como foi, que foi feito para viverem juntos? — que tornava subitamente maior o seu desejo de ser cedo um homem e dar muitos vestidos à mãe. Como permitir que aquela professora invadisse o chalé, apesar de toda a sua educação ou por isto mesmo, para tomar-lhe o pai, reduzir sua mãe a uma simples... Não, não sabia dizer o quê. E a última vez em que foi à escola, escreveu atrás do quadro-negro estas palavras: “Não se meta com meu pai”.
Até hoje não sabia a conseqüência delas.
Descontente com o boi de barro, as mãos pesadas daquela tabatinga alva e espessa com ralações de rosa como certos mármores, descontente por vício e por vingança contra o mundo, Alfredo refugiou-se no galinheiro junto à cerca sobre a qual crescia uma pitombeira. Dentro, entre o zinco da cobertura e a travessa, um calango espiava-o.
Voltou sentindo ainda maior a separação de Cachoeira do mundo, a do chalé de Cachoeira e a sua separação dos que moravam no chalé.
Adiante, azulavam os campos que o levariam até ao mar nunca visto ou para o clarão da cidade que em algumas noites parecia verdadeiro, mas tão longe. Pelo menos, chegaria a [97] Marinatambalo, sempre falado, de onde vinham mangas, tucumãs e histórias de fantasmas.
Ia sair pela porteira, quando sua mãe o chamou com tamanha insistência que retrocedeu, correndo como para proteger-se da fuga, proteger-se de si mesmo nos braços da mãe, porque as distâncias grandes o chamavam e lhe davam vertigens.
— Meu filho, vá tomar banho. Mude esta roupa suja. Veio de alguma olaria? Você pode apanhar vermes do chão. Não ouviu seu pai dizer que a gente pega lombriga da terra? Então vá ao menos se assear, seu embarreador.
Então Alfredo caiu no chão, apertou a cabeça entre os punhos, gritou:
— E o colégio, mamãe? Nunca mais vou pra aquela escola. As lombrigas acabam me levando pro cemitério. Não vou me assear. Vou dormir com esta roupa, vou encher de barro a rede, vou, vou, pronto!
Sua mãe deu uma larga risada espantando a nuvem de carapanãs que zoava sobre a ruína da horta, o capim nascente, sobre janelas.
Acolheu o filho nos braços, o menino se acalmou. Aquela risada dera-lhe uma súbita confiança e com a cabeça junto ao ventre da mãe, como que recebia novamente a vida, o impulso de um novo nascimento.
Foi subindo a escada da cozinha, sentia-se tão leve, desejou que a mãe o carregasse e o pusesse sentado na janela.
[98]
2
Alfredo não podia entender por que sua mãe o convidou para a rua, naquela noite de São Marçal. Foi uma decisão repentina, ao voltar do banheiro, com os cabelos pingando, cheirosíssimos.
Descalça pelo quarto, com uns pés ligeiros de moça que se aprontasse para um encontro imprevisto e proibido, pôs-se a enxugar os cabelos com impaciência, depois vestiu a saia nova e fez um penteado muito repuxado para trás. À mesa do oratório, abriu a pucarina, cobriu o rosto com pó de arroz. Alfredo via-lhe agora o pretume cinzento em que os olhos piscavam, possuídos de uma brusca insolência ou recolhiam-se numa espécie de alheamento que causava medo ao menino. O odor dos cabelos e da roupa vinha das garrafas, onde as ervas, as resinas, as cascas e raízes cheirosas se misturavam. Aquela infusão de meses banhava-a de uma frescura e de uma exalação selvagens.
Ela abotoava a blusa de voile e punha os brincos baratinhos, o menino a observar-lhe o rosto delicado sob o pó, um pouco anguloso; o nariz denunciava uma experiência de poderoso faro de nativa e parecia dilatado na intensa aspiração do perfume. A boca se comprimia numa expressão de náusea, impertinência ou zombaria de si mesma. O queixo, obstinado. Fosse claro aquele rosto e estaria perto de ser uma morena bem bonita, refletiu o menino, logo envergonhado porque desejava ainda, embora já sem o ardor dos outros tempos, que a mãe nascesse menos preta. E lembrava que, com o seu procedimento, tornava-se cúmplice da professora. Esse desejo aos poucos se apagava, já sentia resignação por tê-la assim; descobria-lhe traços finos, suavíssimos, que só aquela [99] carne cor de tabaco e cheia de essências poderia revelar. Via-a se banhando nas verdes infusões do cheiro, com a sua profunda maciez de rosto que nem nas moças brancas encontrava. E aqueles odores se tornavam tão dela como se fosse a sua transpiração normal. Por isso e pelo inesperado convite para o São Marçal, Alfredo entregava-se àquela atenta observação dos movimentos da mãe como se preparasse para dormir ou desfalecer no colo dela.
— Para onde vamos daqui primeiro...
D. Amélia pôs o dedo nos lábios. Olhou-se ao espelho e espalmou as faces para sacudir o pó. Mirou-se mais de perto, distinguindo traços no rosto que lhe recordavam os tempos em Muaná quando mocinha, nas Ilhas quando se negava a dizer de quem tivera o filho — o seu primeiro filho que se afogou —, curvas no nariz, nas sobrancelhas, a golpe de um estrepe, as graduações da pele com uma leve palidez na face, em tudo isto a lembrança de que dantes se considerava uma preta passável. A boca avançou como uma proa sobre o espelho, a testa franziu e depois a grave investigação nos olhos como se quisesse ver, refletido lá no fundo, algo do que acontecerá de súbito.
Examinou os dentes que descascavam cocos, castanhas, canas, duros, brancos, afiados como laminas. E logo a língua, que ela esticou e examinou demoradamente. Isto pareceu a Alfredo de um capricho impróprio da mãe.
Bruscamente disse ela:
— Hei de cortar a língua de um, ainda. Hei de cortar. Amolo a faca e corto. 0u corto com meus dentes. Rá! Que duvidem. E que duvidem.
Isto o encheu de pasmo. Por quê? Que lhe fizeram? E o morno pensou na velha faca americana da cozinha, infalível na sangria dos porcos e dos patos, fácil quando cortava o fígado em fatias. Pensou na pedra de amolar que se adelgaçava, gastando-se para que os aços cortassem e matassem mais, sangrassem melhor, mergulhando a fundo no inocente coração dos bichos. Observava que certas pessoas amolavam vagarosamente o fio dos terçados, com latentes intenções assassinas. Sua mãe teria amolado a faca americana para isso? Como seria possível amolar os dentes para [100] cravá-los numa língua e cortá-la pela raiz? E que língua? A de Lucíola? A da Raquel? A dos bêbados? A da d. Doduca, língua rápida e pouco visível que enrodilhava tudo e tudo envenenava?
Agora via-a com a boca aberta de uma fera no espelho gasto e coberto de pó de arroz. Depois, ela torceu o beiço, soprou o pó do espelho e exclamou:
— Porcaria este espelho. Não sei quando compro outro.,
Alfredo, então, imaginou a idade do velho espelho. A vaidade havia-lhe consumido o aço e em troca muitas e muitas fisionomias estavam ali acumuladas, jovens agora velhas, bonitas hoje monas, as jovens rindo das velhas em que se transformaram e que iam ali se mirar como se quisessem reaver o rosto perdido. Estavam espiando agora d. Amélia, talvez adivinhando-lhe os sentimentos e as intenções.
D. Amélia foi calçar-se. Enfiou as pernas nas meias castanhas e longas até acima dos joelhos onde fez um nó para Alfredo sempre incompreensível, atribuído a insondáveis poderes femininos.
Bateu fortemente os pés dentro dos sapatos com uma insistência que Alfredo considerou implicante. Mariinha veio farejar aqueles preparativos suspeitos, a pergunta na ponta da língua. Mas d. Amélia, novamente com os dedos nos lábios, foi buscar mel com farinha num pires e deu à filha.
Major Alberto, na rede, coçando a perna nua, lia o Depois da Morte, livro espírita contra o qual escrevia notas à margem que desenvolvia nas suas conversações depois do jantar.
— Bem, disse d. Amélia, estou pronta. Assim parece. Mas amarre os sapatos, meu filho. Espere. Sente aqui na mala. Suspenda o pé. Não passou um pano no sapato. Quanta terra, meu Deus.
O bico está que nem a proa da montaria da Mariquinha. E a graxa onde está, a graxa do teu pai?
— Estorricou.
— Como estorricou?
— Destampada. Mariinha pegou, passou o resto na cara do gato.
Aí d. Amélia riu, com a cabeça oscilando sobre os pés do [101] menino, segurando-lhe as pontas dos cordões; riu-se como se estivesse soluçando. Tentou cantar baixinho, fez um muxoxo e resolveu iniciar aquela operação sempre difícil para Alfredo que era amarrar os sapatos com um nó bem feito.
Sentado na mala, vendo-a ajoelhada a amarrar-lhe os sapatos, como a empregada Sílvia fazia com os filhos do promotor, Alfredo sentiu que não vinha sendo bom filho como tanto sua mãe merecia. A onda do cheiro dela amolecia-o. O molhado rumor da tarde de São Marçal, na rua encharcada, distanciava-se. Sua mãe era uma escrava dele, preta escrava. As mãos dela trabalhavam com ~ ligeireza e a habilidade de uma mucama rendeira. Aquela cabeça baixa... Nem um fio branco nos cabelos maciços. Nem um fio. E foi um susto quando a mãe, de súbito, levantou o rosto escuro e serio para ele, cheio de carinhosa censura.
— Pronto, filhotão sem préstimo. Nunca saberá amarrar os sapatos. Nunca. E como o pai. Nem no colégio, se você for, um dia. Parece que nunca calçou sapato. Noutra encarnação, era um... como é que teu pai diz dos índios? Um... neengaíba.
E numa voz baixa:
— Bem, vamos. Dei muito mel pra Mariinha se entreter. Um mel puxa-puxa. Herdou do seu Alberto essa danação pelo mel grosso. Você também herdou. Não negará nunca que é filho de seu pai papa-mel. E gosta de enrolar o pescoço com os fios do mel que ela vai espichando com a colher e com os dedos. Na certa está entretida nisso.
Quando ela se pôs de pé parecia mais alta, e havia no rosto sinais de um esforço que, segundo o menino, deveria ter sido doloroso.
Depois da trovoada e a chuva, o fim da tarde serenou num rosa diluído em nuvens roxas. A Alfredo pareceu que alguém andara espremendo pixunas [fruto silvestre] no céu baixo da outra margem do rio. Sobre a vila, o céu se foi tornando limpo e profundo para a noite, [102] já sem as iraúnas em bandos durante a manhã pelas campinas, negras que reluziam.
Saíram os dois pela porta dos fundos.
Ganharam a rua.
Lucíola estava na janela; acima da casa de Salu, reunia-se gente para a recepção do boi-bumbá que vinha do igarapé do Puca, baixo Arari.
Mãe adiante, filho atrás, os dois evitavam as inúmeras poças.
D. Amélia sentia um ardor no rosto, cheia de obscuras ansiedades e ímpetos. Alfredo via-lhe o ar franzido, a decisão na boca — sabia andar de sapatos como uma mulher da cidade. Depois da chuva, a velha casa de Lucíola apresentava um aspecto de ruína e solidão de impressionar o menino. A moça respondeu ao boa tarde de d. Amélia, alisando a testa que brilhava, larga e amarela, no último raio de sol.
Que fará ela com o menino? perguntou Lucíola mentalmente, agora com a mão em pala sobre os olhos para poder observar melhor a “mãe de seu filho”. Uma espécie de rancor e compaixão sentiu. Fará por certo torturar o menino naquele passeio. Como vai toda emproada como se fosse mesmo a senhora do secretário. Cairá na lama, com o coitadinho aos pé dela, chorando.
Lucíola olhou o céu, um urubu voando muito alto contra o vento parecia estender suas asas noturnas, crescendo sobre a vila.
O menino afundou os sapatos numa poça e sua mãe ralhou com um muxoxo contra aquela incurável distração. Ela caminhava séria, trescalante, dona daquela noite. Deu a mão ao menino e disse:
— Por que não deu boa tarde a ela? Olhe, não largue minha mão. Vai escurecer muito e você sabe que não enxerga bem. Por que não falou com nhá Lucíola?
Ele não respondeu a uma coisa que nunca a mãe havia antes perguntado e procurou substituir as suas velhas e novas apreensões pela curiosidade do boi-bumbá tão anunciado e por todos divertimentos juninos daquela noite.
— Meu filho, vai chuviscar. Volta e vai buscar a sombrinha. Mas cuidado pra que Mariinha não bispe. Se ela bispar, tás perdido. Não podes sair e eu vou só.
[103] Alfredo apanhou a sombrinha, já muito usada. Experimentou abri-la, não soube. Uma pequena e repentina covardia pesou no seu coração. Seria melhor ficar em casa. Deixá-la seguir sozinha, sabe lá com que propósitos de arrancar a língua a alguém. Ficaria em casa esperando os acontecimentos, desfiando mel em companhia da irmã, durante o capricho ou a vingança da mãe.
No corredor, já de volta, viu na mesa do filtro um limão caiana e uma sede daquele limão fê-lo chupar avidamente o sumo que lhe queimava os lábios e a língua, como se castigasse a sua covardia. Era sede daquela aventura, traição a Mariinha, esquecimento do pai? Não sabia porque chupara com tanta sede aquela fruta tão acida. E não pôde deixar de espiar a irmã sentadinha, tão entretida, a um canto da varanda. Lambia os bracinhos cheios de mel. O pescoço era mel puro. De vez em quando ela sorria com essa felicidade secreta e indefesa das crianças quando brincam sós. Fios de mel pendiam de entre os fios do cabelo.
Mas espocou um foguete na curva do rio abaixo, e logo três apitos da lancha que trazia o boi. Alfredo avançou pelo aterro e viu a correria dos moleques espirrando lama por todos os lados, o cordão do boi local em forma, seguindo para o trapiche público, outro foguete, som de flauta e uma afinação de cavaquinho, a toalha da bandeja de arroz doce caiu na lama; foguetes sucederam-se no rio, outros responderam na cabeça do trapiche. Maracás abrigaram na estreita varanda de parapeito, defronte do xadrez foi assustado que ouviu a mãe, já lhe tomando a sombrinha, dizer num gracejo:
— Vamos. Vamos ver chegar esse tal do boi do Situba.
E seria:
— Viste a papa-mel? Na certa, ela deve estar agora dentro do pote de mel feito uma formiga. Vamos.
Nisto, súbita e ruidosa pancada de chuva, de pingos graúdos, fez debandar a pequena massa que se comprimia no trapiche.
D. Amélia e o filho, sob a minguada sombrinha, se enfiaram pelos fundos da Intendência que ficava ao lado do trapiche e se abrigavam na estreita varanda de parapeito, defronte do xadrez municipal. A escuridão da noite caiu como lama sobre a chuva [104] que crepitava no telhado gotejante, sobre as vozes dispersas dos homens, maracás, bater de pés na madeira do trapiche, curtas risadas que eram como gritos de marrecas desgarradas do bando.
Junto às grades, na luz suja do xadrez, o menino lembrou a tarde em que a mãe o mandou a um preso de justiça para cortar cabelo. Estava cabeludo e piolhento. O preso, à porta do xadrez, abatia a gaforinha a golpes macios de tesoura, delicado como barbeiro de cidade, mas silencioso. Era muito negro e alto. Seu rosto suando, gotejava num piche fresco. Alguns detalhes do seu crime haviam sido descritos no chalé pelo Rodolfo: a mulher dormia debaixo do mosquiteiro na casa do comerciante, dono dela. Ele entrou no quarto escuro; já dentro do mosquiteiro, contemplou por algum tempo a sempre desejada e impossível amante agora adormecida e marcou bem o lugar do coração. Foi uma punhalada só. Depois, o comerciante, na outra rede, acordou ouvindo um gorgolejo no soalho. O sangue escoava como de uma torneira aberta. Alfredo ficou com aquele gorgolejo na imaginação. Acreditava que o sangue era sempre silencioso, mesmo borbotando de um peito apunhalado. E esse rumor de sangue escorrendo debaixo do mosquiteiro dava-lhe a impressão de garrafas que se mergulham na água para enchê-las. Também o sangue ensopava as pontas do mosquiteiro que se tornaria depois inteiramente vermelho.
A esse homem, agora de mãos tão humildes e sem culpa, Alfredo entregava a cabeça. O preso cortava o cabelo no mesmo silêncio com que matou a mulher no sono. Havia um fulgor úmido no branco dos seus olhos, O menino sentia aquele hálito assassino sobre os cabelos, a nuca. As mãos dele, com delicadeza, ajeitavam-lhe a cabeça para a posição conveniente e a tesoura ia ceifando aquela capoeira onde os piolhos acampavam.
— Mas não tinha... então... piolho... Mas ah! Foi o gracejo do preso ao terminar, a sorrir malicioso, parecendo ao mesmo tempo pedir desculpas, rasgando maciamente a boca onde aflorava uma espessa dentadura de canibal. E aí Alfredo, que se sentiu humilhado com a pilhéria, cheio de vergonha por ter apanhado piolhos, compreendeu, achando nisso uma forma de sua íntima desforra. E indagou a si mesmo por que o negro usara o punhal e não aqueles [105] dentes. Por certo eram mais certeiros e mergulhariam com maior facilidade no peito da mulher para arrancar-lhe o coração. Agora essa lembrança associava-se à frase da mãe ao ameaçar que havia ainda de cortar a língua a alguém.
Tentou olhar para o fundo do xadrez e viu a lamparina enegrecendo a parede. O tamborete, o caco de cuja, um couro de boi e a rede funda de onde subia um lento fumo de cachimbo. Lá estaria outro assassino ou um daqueles indecifráveis ladrões de gado que vinham dos campos e ficavam servindo de bois cargueiros hs famílias das autoridades. Só se sentiam livres quando voltavam à noitinha para o xadrez, trancafiados pelo velho Secundino. Para Alfredo, o velho carcereiro era pior que os assassinos e ladrões, a sacudir continuamente aquelas enferrujadas chaves na mão, metendo medo às crianças, trancando a porta em meio de um acesso de sua velha tosse crônica. Havia de apanhar aquelas chaves do velho Secundino e atirá-las no rio.
Pôs-se na ponta dos pés para espiar melhor e descobrir quem cachimbava na rede. Seria um daqueles invariáveis bêbados que passam as tardes gritando, no seu desespero lancinante quando, depois de espancados, são cuspidos sobre o chão do xadrez. Aqui Alfredo se lembrou que Dionízio estava moribundo.
Por instantes, o cachimbo tornava-se suspenso sobre a rede, depois recolhia-se como a cabeça de uma tartaruga. Seguia-se uma vagarosa fumarada que adquiria estranha nitidez com o barulho da chuva no telhado. E assim Alfredo planejou que ao voltar iria ver Dionízio, tantas e tantas vezes atirado naquele xadrez. Havia de lançar as velhas chaves do velho Secundino no rio.
D. Amélia se concentrava numa espera cheia de raiva contra o tempo, impaciência contra a demora, esquecimento repentino da misteriosa vingança. E nisto lhe veio a recordação de um distante carnaval em Muaná, quando andava ainda solta, solta... Tinha sido depois do primeiro filho e daquele canoeiro que lhe propôs levá-la para o Guamá. A figura do homem, atravessando-lhe a memória, dissolvia-se entre outros homens que se misturavam com [106] as palmeiras e as palhoças na sombra selvagem. A voz do canoeiro ia fugindo, falava-lhe de cima do toldo, de cima dos cabos, do bojo das velas, dos manivais maduros do Guamá. Seu passado de moça e de mãe de primeiro filho partia-se em episódios contraditórios, cenas truncadas, encontros com este e aquele irmão errante. Olhando-a, passava major Alberto, no caminho, muito branco, o andar macio de um tranqüilo caçador. Mas de todo esse passado revolvido, irrompeu de novo o carnaval.
— Sim, disse consigo, esta noite me fez lembrar aquele carnaval.
As figuras fugiam, uma voz familiar, em seguida, arrastava-as no fio da lembrança.
— Que carnaval aquele... Foi o último...
O último de sua vida solta, porque semanas depois, major Alberto detinha-se, chamava-a para convidá-la a vir em sua companhia. Ficaram bem no meio de quatro palmeiras. Alguns riscos de sombra desciam das palmas ariscas ao vento. Ela mais alta um pouco, o rosto luzindo de uma seiva escura. Ele, 46 anos, a cabeça sólida no tronco de raízes patriarcais. Sob o vento, as palmeiras faziam um fino, leve balanço nupcial. Houve um segundo em que os dois troncos humanos e os caules não se distinguiam mais, o rosto preto e o rosto branco se cobriam do sol a pino. Uma palma desprendeu-se e tombou sobre o colo da mulher que a ostentou como um estandarte, escondendo, num riso silencioso, os dentes brancos entre as talas verdes.
Derradeiro carnaval aquele. Alfredo perguntou sem muita curiosidade: por que? Como ela não respondesse, ele concordou que seria melhor assim. Talvez fosse uma coisa vergonhosa, que carnaval e onde?
O carnaval surgira com a doença e morte do Damiano, um negro vendedor de açaí no Ver-o-Peso. O que tinha de negro tinha de festeiro. E fora ele que inventara o cordão “Alegres por toda a vida” para aquele carnaval. Mas uma onda de paludismo cobria a vila. Damiano sentiu o primeiro sinal da malária quando, debruçado no balcão, contava e recontava o dinheiro para comprar alvaiade. Faltavam seiscentos réis. Havia escolhido moças que pudessem agüentar entrudo à beira do poço da casa de siá Lúcia. [107] Amélia foi escolhida. Seria um carnaval bem sujo — o verdadeiro entrudo consistia em atirar lama no parceiro, empurrar o parceiro na vala, cobrir de tisna as amigas que, embora febrentas, se metiam — tão amarelas, coitadas! — nas largas saias de chitão vermelho.
Ela e seus amigos voltaram do enterro de Damiano dispostos a brincar, a arranjar máscaras, a fazer do terreiro de siá Lúcia um campo de entrudo como nunca houve na vila. Damiano, no dia da morte, não havia dito que não deixassem de brincar? Por causa de mim, não, murmurou. Algumas horas antes da agonia, pegou a mão de Amélia e disse:
— Olha, Amélia, tu bem sabia que eu gostava de ti. O povo falou mal de nós dois. Foi uma fama sem proveito. Tudo não passava de uma falância. Tu sempre me deste o desprezo. Não? Não era? Então tu não sabe o que é desprezo.
Todo o mundo então olhou surpreendido para Amélia, convencidos todos afinal de que nunca tinha havido nada entre aqueles dois. Amélia, de rosto enxuto sentiu os dedos do doente escorregarem e caírem no lençol. Era um triste triunfo o seu sobre a maldade alheia. Que falassem, que todos continuassem a falar, contanto que Damiano não levasse consigo nem revelasse amanho ressentimento dela. E assim saía de uma conversa para outra, e pior, que se espalharia por toda a vila. Amélia se retirou do quarto com um indefinível sentimento de acusação ao doente. Que ele a não perseguisse, era o que pedia a seu anjo da guarda.
Quando a amiga se aproximou dela e lhe disse que Damiano tinha expirado, Amélia segurou o esteio do parapeito, como se apertasse a mão do morto. E a amiga lhe pediu:
— Por que tu não chora, Amélia? Chora que te faz bem.
Formados depois no cordão do Damiano, Amélia e seus amigos mandaram parar os sinos que dobravam ainda. Era pedido de Damiano, tinham que brincar. Haviam de fazer um entrudo em homenagem ao falecido, encher a vila de máscaras modeladas no barro, meter medo às crianças, vingar-se dos desafetos, cobrindo-os de lama e zarcão.
Mas foi um tamanho espanto ao ouvirem dobrar os sinos novamente! Quem estaria fazendo aquilo? Amélia correu, subiu a [108] torre e quem encontrou lá? A Esmeralda, uma velha rapariga de Damiano.
— Estou te mostrando que tenho sentimento. Aqui se prova quem mesmo gostava dele.
Ambas estavam debaixo da boca do sino grande, a última ressonância se diluía no cheiro dos morcegos, no ar quente. Para abafar a resposta de Amélia, Esmeralda puxou a corda do sino que dobrou com um som enorme.
— Esmeralda, não te tirei Damiano. Ele até que levou queixa de mim, mea mana. Infelizmente nunca pude gostar dele. Esmeralda, desce comigo.
Esmeralda, excitada pelo dobre imenso, olhava para a rival como se fosse lançá-la de cima da torre, enforcá-la na corda do sino. Mas Amélia debruçou-se na janela da torre e acenou chamando os seus amigos, que, fantasiados, subiram, pararam o sino e testemunharam perante Esmeralda o que se passou nas últimas horas de Damiano. Esmeralda ouviu e no meio da escada exclamou:
— Amélia, ainda assim tu prova tua falta de sentimento. Em vez de sentir isso... tu festejas a morte dele. Até onde chegou o teu desprezo. Mas não faltará castigo.
Na igreja vazia e fechada, suas palavras ressoaram como uma imprecação.
O cordão se alinhou na rua. Sob a máscara que lhe cobria o rosto de barro, Amélia não chorava. Resolveram cantar. Suas vozes tinham tal lamentação e tal súplica que imediatamente se calaram. Atrás, os moleques, com seus “papagaios” debaixo do braço, calados e rotos, como se estivessem brincando de enjeitados, fantasiados de infelizes. Não havia serpentina nem lança-perfume. Não havia arlequim nem colombinas. Jerônimo quis aparecer de pierrot, mas o máximo que pôde foi se fazer de palhaço, com uma velha sombrinha aberta, as coxas tintas de urucu, a cicatriz redonda de uma ferida na perna como um pompom.
O cordão caminhou. Parou defronte da casa de siá Lúcia que tinha um parapeito para a rua com cortina de miriti. Que era feito das filhas de siá Lúcia? O bombo deixou de bater. Os mascarados ficaram em silêncio. O sol da tarde dava um brilho duro às [109] mascaras, às caras pintadas, às roupas enlameadas e pegajosas. Não sabiam o que fazer. Levavam cujas de lama, cal, tisna, zarcão, só faltava farinha de trigo porque na padaria havia apenas meia saca para uns diazinhos de pão. O jeito era enfrentar com aquelas poucas armas, os adversários, estes armados de pimentas, mostarda, urina choca e alvaiade. E na frente da casa de siá Lúcia, o cordão continuava parado. Por que não iam para a casa dos Almeidas onde a gorda d. Tulha estava pronta a investir com as suas banhas, o seu carvão moído e o seu sal? O entrudo ali poderia salvar o domingo. Dali as mulheres sairiam desgrenhadas, imundas, em trapos, no rumo do igarapé e atrás os homens, com as máscaras entaladas no braço e no pescoço, cambaleando.
— Ó siá Lúcia! Ó Chica, ó Estefania, ó três irmãs!
A casa não respondia. Os instrumentos de música jaziam no chão. Amélia lembrava os outros carnavais que brincara com as filhas de siá Lúcia. Com elas engolia confete — tempo em que havia confete! — e comia depois na quarta-feira o capado das Cinzas, só banha e toucinho, que o velho escrivão Daniel preparava para festejar a morte do carnaval, de que tinha tanto ódio.
O cordão viu siá Lúcia aparecer com uma papa de remédio na mio. A mulher deu com os mascarados, com os instrumentos de música, os ingredientes do entrudo, os homens suados, as mulheres suadas. Então notaram que ela exibia uma máscara também. Chorava aquela mulher que durante 30 anos, na vila, soubera comandar entrudos tremendos, grossas lutas em torno do poço e das valas, com a alegria e a resistência de três homens juntos. Rolava o remédio entre as mãos, apontando para o quarto onde as três filhas deliravam de febre. Penduradas no parapeito coziam ao sal as máscaras inúteis. Todos foram espiar pela abertura das palhas do quarto. Uma das moças, no seu delírio, de bruços na esteira, chamava Damiano pedindo-lhe um saco de confete. Outra gemia, debatendo-se na rede, numa surda confissão: “Ele me fez mal, ele me fez mal”. A terceira tinha os olhos fechados, a boca oculta na ponta do lençol.
Jerônimo, então, fechou a sombrinha. Amélia tirou a máscara. Domingos Xavier guardou o trombone. O cordão se [110] desmanchou ali mesmo, máscaras e cuias de entrudo jogadas ao chão. Amélia caminhava sozinha, adiante iam Osório e Estandico nos fraques, trazidos de Belém pelo finado Eusébio, do tempo em que era da Delegacia Fiscal. Sob a onda de mosquitos que espalhavam a febre em Muaná, a tarde caiu. A noite, Amélia foi fazer quarto da primeira filha de siá Lúcia. Na terça-feira gorda, o pessoal do cordão “Alegres por toda a vida” acompanhava o enterro da terceira.
— Um carnaval e tanto, resmungou Amélia, olhando para o trapiche. Dispersando os detritos desse carnaval na memória, as quatro palmeiras varriam do céu o amor de Damiano, a praga de Esmeralda, entreabrindo as palmas para que se despencasse do alto o rosto branco do Major.
— Vamos, meu filho. Esta noite é como aquele carnaval... Vamos.
Puxou o filho pela blusa e disse:
— A chuva está passando, seu distraído. Vamos que a lancha está encosta-não-encosta.
— Mamãe, depois a gente pode ir ver Dionízio? Coitado, ele bebia... não? Está morrendo da bebida?
D. Amélia, abrindo a sombrinha, não respondeu e os seus aromas entravam pelas grades do xadrez.
Subiram ao trapiche, misturando-se no meio da massa e entre os personagens do “Caprichoso”. As vestimentas pingavam. O chuvisco cessou e a lancha atracava com a máquina a chiar, o que a Alfredo pareceu uma grande bola de futebol esvaziando-se. Com a escuridão, faróis acesos e duas ou mais lanternas piscavam aqui e ali, menos para iluminar do que por vaidosa exibição de seus donos. Com a maré baixa, não houve possibilidade de colocar a estiva em cima, mas somente no penúltimo degrau da escada.
Alfredo inclinou-se, atento: a lancha bufava, a sineta irritada mandava atrás e adiante, um cabo foi lançado no escuro para o esteio grande sob o gluglu lá no fundo da hélice. As lanchas fascinavam-no: aquele cheiro de viagem que vinha do vapor, dos cabos, das sanefas, dos tripulantes, de todas as coisas e vozes a bordo... A hélice ao mesmo tempo revolvia a água lodosa e o sangue [111] do coração do menino faminto de partir.
Alfredo passou a mão pelos olhos, fez-se um silêncio em torno como a um sinal convencionado. D. Amélia tinha o rosto fundido na treva. Alfredo apertou-lhe nervosamente a mão e se tomou de susto quando, de repente, romperam tambores na lancha, tão violentos e agressivos que pareciam subir pelo trapiche, invadindo a noite. Compreendeu que o seu movimento de susto, surpresa e mesmo assombro era também o daquela gente que ali estava. Não se usavam tambores nos bois-bumbás em Cachoeira. Tambor só mesmo o do rufo na banda e os da Coroa do Divino Espírito Santo, recolhidos pela polícia à ordem do arcebispo. Era, com efeito, uma nota de escândalo aquela invenção do Situba e com este agravo: não dera um só aviso, ninguém de fato sabia.
Para marcar o efeito, o próprio Situba pedira silêncio como se fosse saudar Cachoeira, pois tinha faina de orador no baixo Arari e entre os embarcadiços. O sajica mestre de lancha fizera aquilo para surpreender e confundir Cachoeira. Seria nova moda em Belém? Interrogou-se Alfredo. Eis aí a vantagem de andar embarcado, de comandar uma lancha, subir e descer o rio... A massa do trapiche excitava-se cada vez mais diante do tantam redondo batendo freneticamente dentro da lancha. Foi então que um grito rompeu da massa:
— Como é? É um boi ou o Divino Espírito Santo? Me tirem desta dúvida.
— É o Espírito Santo brincando de boi-bumbá.
— A Coroa virou boi?
— E o Espírito Santo para enganar a polícia do bispo.
Um psiu encheu o trapiche. E outro grito caiu sobre a lancha:
— E boi ou batalhão? Ou é astúcia do Divino entrando de contrabando em Cachoeira?
Responderam da lancha:
— E boi, vocês vão ver. E boi.
— Boi não tem tambor. É boi militar? Boi guerreiro?
Novamente, desta vez com força, um psiu longo dos responsáveis pela recepção dominou aquilo que poderia generalizar-se numa vaia ao boi que chegava. E logo, de entre os do “Caprichoso”, maracás se agitaram acompanhando com cordialidade o ritmo [112] insolente dos tambores do Situba. Um foguete chiou sem espocar. Alguém perguntou pelo nome do boi. E o “Garantido”, responderam simultaneamente da lancha e do trapiche. Outro foguete caiu no meio do Arari que se escondia, vazando na escuridão. Perto, Alfredo escutou:
— Quantos tambores?
— Pelo som parece uma dúzia.
— Dúzia nada, três.
— Se sabia por que perguntou?
— Fazia mal então perguntar?
— Não sou preso para estar respondendo ao tenente. Não perguntasse.
— Facilita e depois te queixa que te botei de riba deste trapiche pro tijuco.
— Está pra nascer quem fará isto com seu Degas. E não te esquece de dizer pra maninha que me espere esta noite.
— Ela mandou dizer que me desse aí uns vinte bagarotes... Passa, passa o milho.
— Cunhado caro esse! Ei! Ei! Não brinca. Não empurra.
D. Amélia interveio.
— Se acomodem. Acabam se empurrando um ao outro na lama.
— Ah, é madrinha Amélia? Abençoa?
Os tambores sustentavam o fôlego. Os maracás silenciaram. Subiu da lancha a voz, como um aboio, em tom saudoso, que falava do prazer da chegada. O “Garantido” visitava Cachoeira com muita satisfação. Era Situba cantando. Então os “índios”, à luz do farol vermelho da lancha, subiram ao toldo e estenderam os seus arcos e flechas. Os cocares e as tangas, os tacapes e as miçangas brilhavam furtivamente. E d. Amélia pôs-se a rir. Alfredo tentou compreender. Por que o boi custava a desembarcar? Ao clarão rápido de uma lanterna viu a mãe com as mãos na boca.
— Que é isso, mamãe? Não quer voltar pra casa?
— Está com medo dos tambores e dos índios? Aqueles índios do Puca são índios de verdade, pilheriou.
— Mas a senhora estava com as mãos na boca.
— Só por isto? Que é que tem?
— A senhora estava com as mãos na boca. Parecia que estava [113] agüentando vômito.
Ora, meu filho, vamos ver, é que é, o desembarque. Tirei esta noite para ver os bichos. Agora que está se parecendo com aquele carnaval, esta...
— Mas por que a senhora estava com as mãos na boca?
Mas, meu Deus, se impressionou tanto? Foi pra não rir alto. Achei graça. Me lembrei do carnaval, me deu uma vontade de chorar, agora... Naquele tempo não chorei. Mas agora... E sua mãe não pode achar graça à toa?
— Fiquei assim porque a senhora estava com as mãos na boca...
D. Amélia segurou a mão do filho que se sentia zonzo. Tentando varar a massa, um bêbado ergui a os punhos frouxos contra os tambores.
— Isto nunca que foi um boi. Isto é pura pajelança do Puca, “Que os pariu” Que os pariu. Metam essa lancha no fundo. Situba tem parte com o mal-assombrado. Que vá bater tambor com os jacarés. Que os pariu. Isto está escuro que é uma coisa desconforme. Que os pariu. O intendente devia mandar contratar uns mil poraquês para ligar a luz elétrica. Vou falar isto com o major Alberto. Que os pariu. Chamem os poraquês pra fazer iluminação. Que os pariu. Ou chamem então as mulheres prenhas para dar a luz. As prenhas. Só as prenhas. E aposto que são os pica-paus que estio batendo nos tambores. Conheço. Esse Situba é mestre de lancha fantasma. O couro desses tambores é couro curtido das raparigas que ele papou na beirada, na roça, no barranco quando desce no inverno. Eu vi. Estava que nem um peixe-boi na canarana. O Situba! dá primeiro conta das pequenas que tu comeste no Puca. As cordas do teu violão são de barbatana de boto. A lancha entrava no igarapé em seco, arrecadava as infelizes dos jiraus. Que os pariu. Que os pariu. Se serve da lancha para isso. A tripa do boi e um boto tucuxi. Ponham esses tambores dentro d’água. Experimentem rezar que a lancha some num átimo... E pura lancha fantasma.
Alfredo procurava saber quem era o bêbado, seu falatório se perdia na massa estonteada com os tambores renitentes. Mas d. Amélia disse:
— Não vá pra perto dele. É o suplente não sei do quê. O seu [114] “Farinha D’água.”
— O seu “Farinha D’água?” Mas ele está se ajoelhando, de mãos postas... foi a exclamação de uma mulher.
— Sopre na lancha, seu “Farinha”. Não é preciso rezar. O seu bafo faz desaparecer tudo. Sopre...
Era um brado grosso da ponta do trapiche. O bêbado rezava:
Creio em Deus Padre... Creio.
A reza enrolava. “Ó mãe santíssima...” Como não pudesse continuar largou um “que os pariu” e ergueu-se numa guinada.
— Hoje e a noite do seu “Farinha D’água”. A noite é dele, disse um caboclo que catingava feio na escuridão. O bêbado voltava a rezar e a praguejar.
Vendo-o ajoelhado e a repetir o “que os pariu”, Alfredo concluiu amargamente que era também a noite de sua mãe.
Os “índios” foram os primeiros a saltar. Um deles, tentando exibir-se com um salto de baliza na estiva resvaladia, tombou n’água. Entre os gritos de “caiu! caiu!”, “salvem o índio”, “foi o Teteu”, Alfredo acreditou que o pobre teria espatifado a cabeça nos tocos da beira ou partido a espinha no costado da lancha. Faróis e lanternas inclinaram-se sobre aquilo que para Alfredo era um abismo. Pôde, no entanto, ver o caboclo, já de pé, no tijuco em que escorregou, mas agilmente equilibrou-se para lançar a cabeça à luz dos faróis num gesto de triunfo, convencimento e ao mesmo tempo de malícia. Ao subir a escada, as lanternas fixaram-se nele. Era baixo, jovem, de maçãs agudas, grosso de urucu e lama, a cabeleira de “índio” gotejando na mão, o cocar partido, a espessa tanga de penas e uma escoriação sangrando na coxa nua. Tinha uma grosseira tatuagem no peito — rã, peixe — indecifrável e dolorosa para Alfredo que a viu como se ela também se imprimisse em sua carne. Fedia intensamente a tijuco e, enfrentando a luz, ria, como se viesse do fundo de alguma igaçaba perdida no rio, para participar daquela festa. Logo se meteu no bando dentro da semiescuridão em que sucessivos fósforos acesos acusavam caras fugitivas, bocas de bronze, cabeleiras enormes, enormes [115] tangas de pena, espelhinhos, miçangas, colares, maracás, pés desconformes que pulavam, pés de borracha e de penas. “Índios” escuros e avermelhados dançavam com a toada do Situba que desembarcara cantando ao som agora mais vagaroso dos tambores, cavaquinhos, flauta, coro dos vaqueiros, a voz de uma mulher, muito rouca. Sempre mudos, como se não soubessem falar senão a língua de sua tribo e tintos de urucu maciço, eram verdadeiramente índios para Alfredo. Queriam viver assim mesmo, compreendeu. Sua mãe ao lado murmurava qualquer coisa incompreensível. E o que mais espantava o menino: no meio dos pulos e da dança, entre arcos, flechas, maracás e turbilhões de penas, um deles tinha tempo ainda de puxar tranqüilamente o seu trago de fumo. Ao faiscar do cigarro na boca, uns olhos de jacaré, cor de igapó para onde teria de voltar.
Alfredo então teve um movimento de receio num impulso de fugir. D. Amélia voltou-se para ele, abanando sucessivamente a cabeça:
— Não viste inda o boi? Presta atenção. Esta é a última noite. É São Marçal.
— Isto lá é festa?
— E o que é?
O menino coçou a cabeça sob a dificuldade da resposta. Afinal queria compreender melhor aqueles divertimentos que fediam a suor, a peixe, a urucu, a cachaça e a tijuco. A coxa do índio sangrava, mas os dentes dele alvejavam num riso de presumida satisfação. Os tambores sacudiam aqueles corpos, aquelas tangas, aqueles falsos adornos, numa excitação crescente. Alfredo sentiu-se só. Transportou-se por um instante para o silêncio em que estaria Mariinha, já adormecida nos braços do pai ou no chão. As formigas poderiam atacá-la por causa do mel. A mãe deveria voltar para dar-lhe um banho e fazê-la dormir em seu colo. E se fosse brincar com as caturras e acender papel no candeeiro?
— Mamãe, a senhora se esqueceu do jantar do papai.
— Ele não quis jantar hoje. Ficou mal comigo. Teu pai tem desses repentes.
— Por que?
[116] — Enjoado. Paixão. Fastio de apaixonado.
— Mamãe deu agora para dizer só bobagens.
— E tu sabe o que se passa dentro da cabeça do teu pai?
Alfredo calou-se. Que acontecia em sua mãe numa noite absurda como aquela? E seu pensamento apanhou o fundo do corredor onde o velho Dionízio agonizava. Dionízio — que desarmava a ponte do chalé, gritava nas noites de chuva e de enchente no meio da água, pedindo passagem, pegava cascavéis a unha — pois tinha a mão curada — Dionízio que queimou a barraca de Felícia. Também brincara no boi-bumbá. Também pulou fogueira alta, na mocidade, como ele dizia. Foi vaqueiro, pai Francisco, “tripa” do Caprichoso, tuxaua, depois, por causa da bebida, reduzido a simples agregado, carregando farol, vestimentas, instrumentos, vestindo a indiada, até que foi de uma vez eliminado porque bebia desconforme. Era mestre na arte de matar o “Caprichoso” ao fim dos festejos, quando, ao empunhar a faca nova, sangrava o pescoço de pano da vítima, onde por dentro se alojava um garrafão de vinho aberto no mesmo instante pela “tripa” que se conservava debaixo do boi. O sangue jorrava no chão, nas cuias, nos copos. Dionízio aparava o vinho com a boca numa avidez sombria. Os tambores retumbavam em torno da agonia de Dionízio e principiou a chuviscar.
— Mamãe, vamos pra casa.
D. Amélia, com a sombrinha aberta, enfiou por entre as gentes para ver, de perto, o boi que desembarcava. Tendo largado a mão do filho, gritava por este:
— Ande, seu pateta. Patetinha. E um moleza. Dê sua mão, ande, seu zuruó.
Ao ver-se chamado assim diante de todo o mundo — coisa que Lucíola jamais faria — Alfredo fingiu não escutar os gritos meio roucos da mãe e colocou-se atrás de um homem coberto por uma pele de onça e que suspendia um farol esfumaçado.
— Onde está? Um pateta. Alfredo!
Um braço envolveu o menino e o levou facilmente para d. Amélia.
— Que estava fazendo? Não lhe disse que não se largasse de [117] mea mão? Obrigado, Azarias. Não se deixe apertar. Vamos ver o boi. Mas minha Nossa Senhora, que boi. Um boizinho. Um bezerro...
E a massa começou a rir ao ver, saltando da lancha, qualquer coisa alvacenta que pulava no trapiche de um lado e de outro.
— Mas isso aí é boi? Ou bezerro de chifre? E uma cutia?
— Cutia e a vovozinha, cunhado. A mana vai bem?
— É boi criado por anta. Mamou na mãe-d’água. O chiqueiro deste bezerro é no fundo.
Era uma conversação aos gritos e entre injúrias, em que as visagens e as lendas transfiguravam os homens. Situba começou a cantar a chegada do boi.
“Garantido, boi de fama...” Alfredo notou os pés de quem dançava debaixo do boi. Deveriam ser de menino e do seu tamanho. Surpreendeu-se invejando-o. Divertia-se ali debaixo do “Garantido”, um desconhecido curumim, bem ensaiado para dançar, naturalmente suando apesar do chuvisco. Olhava pelos olhos de vidro do boi, descalço. E Alfredo imaginou um boi que tivesse os pés de homem, aparecendo à noite pelos currais e salas de Cachoeira, ora nas festas, ora nos velórios. E ali ao som dos tambores dançava um boi com pés de menino, inclinando a cabeça às palavras de saudação de Situba, d. Amélia aplaudia, o que pareceu incompreensível ao filho.
Os dois cordões misturaram-se e foram dadas ordens para nova formação. Os tambores pararam. Apitos. A cantiga de Situba elevou-se num coro triste. Estreitou-se um círculo de gente em torno do “Garantido” que cumprimentava o “Caprichoso”. A sombrinha de d. Amélia destacava-se à luz de um facho. Alfredo, espremido, viu os bois que se cumprimentavam e sorriu do contraste.
A não ser a cabeça feita com caveira autêntica, o “Garantido” era, com efeito, boi de brinquedo, bezerro de bumbá, mais diminuído ainda quando parava de dançar, deitando-se com o tripa dentro, bem quieto, os chifres enlaçados de flores e fitas. Do outro lado, o “Caprichoso”, que se tornava extraordinário diante do visitante, com malhas pretas de veludo, a cabeça bem posta, [118] chifres lustrosos, olhos de vidro escuro, olhando vivos. Um boi tão bem feito como os bumbás de Belém, armado com a arte do mestre Joaquim Cunha, experiente de muitos anos de São João e do conhecimento do gado. Diante dele, o “Garantido” era um arremedo de causar lástima e ao mesmo tempo subvertia a tradição do bumbá. E isto produziu primeiro hilaridade quase geral, depois certa curiosidade um tanto prevenida, por fim aceitação e mesmo respeito porque o cordão tinha numerosos figurantes, compasso nos tambores, caprichara nas vestimentas. Situba, blusa e calção de cetim, o chapéu brilhante partido ao lado, revelava-se legítimo amo de boi-bumbá. Tirava versos numa improvisão surpreendente e sabia imprimir a todos os seus parceiros uma vibração contagiosa.
Alfredo olhava o “Caprichoso” um pouco orgulhoso dele e da sua velha intimidade com o boi, da casa de Lucíola. Didico era o zelador do boi. Viu-o muitas vezes, longe das festas de São João, solitário, se cobrindo de pó, a um canto do quarto de Lucíola. Devassara-lhe o mistério da armação, aquele forro de cetim e veludo que tanto o preocupava quando o conheceu pela primeira vez no centro do cordão, à luz da fogueira grande. Estava ali o “Caprichoso” diante do “Garantido”, com a tranqüila certeza de que era um autêntico boi-bumbá. E Alfredo conhecia a história de sua cabeça. Era de um garrote, da fazenda “Por Enquanto”, que pisara um sucuriju grande debaixo de umas cuieiras, avançara sobre uma mulher de saia encarnada e a ferira no braço e como se voltasse também contra o dono, no risco de furar-lhe a barriga, foi laçado e trancado. O dono resolveu vingar-se dele de uma maneira singular. Soltou-o no meio das vacas e novilhas no pastoreador. Ao vê-lo excitado mandou prendê-lo, na mesma hora castrou-o, Alfredo, por coincidência, havia visitado a fazenda naquela tarde em companhia de Didico. Ouviu o baque surdo do malho nos sacos do boi que urrou de tal forma, mais parecia castração de um homem. Meses depois, o boi abatido, a cabeça comprada para o “Caprichoso” que andava precisando de uma nova. Lucíola tratou dela, esteve semanas na ponta das estacas aos fundos da casa, vigiado pelos urubus. E mal a caveira alvejou ao [119] sol, com os chifres luzidios, foi levada para o mestre Joaquim Cunha. Vendo-o agora na sombra, Alfredo esperava que aquela cabeça forrada e malhada não soltasse de novo o urro da castração. Podia arrastar o corpo de panos e madeira, chifrando todo o mundo, procurando o pastoreador.
Em ordem, vamos. Está demorando. Pra cima. Pra cima.
A orquestra do “Caprichoso” tocou. Os versos de saudação subiram numa áspera melancolia. Mas os tambores responderam e a massa refluiu para a rua, atrás dos cordões que dançavam. Os bois, agora íntimos, seguiam as pulos, trocando chifradas cordiais, volteando os rabos em torno do povo. Descobria-se um ou outro pé, de um homem ou de um menino, por entre as largas e soltas bainhas da cobertura dos bois. Situba levantou a voz e novos versos se espalharam pela escuridão em que os faróis ardiam. A procissão encheu a rua, ganhando o aterro. D. Amélia fechou a sombrinha e conduziu Alfredo pelo braço.
Descalça pelo quarto, com uns pés ligeiros de moça que se aprontasse para um encontro imprevisto e proibido, pôs-se a enxugar os cabelos com impaciência, depois vestiu a saia nova e fez um penteado muito repuxado para trás. À mesa do oratório, abriu a pucarina, cobriu o rosto com pó de arroz. Alfredo via-lhe agora o pretume cinzento em que os olhos piscavam, possuídos de uma brusca insolência ou recolhiam-se numa espécie de alheamento que causava medo ao menino. O odor dos cabelos e da roupa vinha das garrafas, onde as ervas, as resinas, as cascas e raízes cheirosas se misturavam. Aquela infusão de meses banhava-a de uma frescura e de uma exalação selvagens.
Ela abotoava a blusa de voile e punha os brincos baratinhos, o menino a observar-lhe o rosto delicado sob o pó, um pouco anguloso; o nariz denunciava uma experiência de poderoso faro de nativa e parecia dilatado na intensa aspiração do perfume. A boca se comprimia numa expressão de náusea, impertinência ou zombaria de si mesma. O queixo, obstinado. Fosse claro aquele rosto e estaria perto de ser uma morena bem bonita, refletiu o menino, logo envergonhado porque desejava ainda, embora já sem o ardor dos outros tempos, que a mãe nascesse menos preta. E lembrava que, com o seu procedimento, tornava-se cúmplice da professora. Esse desejo aos poucos se apagava, já sentia resignação por tê-la assim; descobria-lhe traços finos, suavíssimos, que só aquela [99] carne cor de tabaco e cheia de essências poderia revelar. Via-a se banhando nas verdes infusões do cheiro, com a sua profunda maciez de rosto que nem nas moças brancas encontrava. E aqueles odores se tornavam tão dela como se fosse a sua transpiração normal. Por isso e pelo inesperado convite para o São Marçal, Alfredo entregava-se àquela atenta observação dos movimentos da mãe como se preparasse para dormir ou desfalecer no colo dela.
— Para onde vamos daqui primeiro...
D. Amélia pôs o dedo nos lábios. Olhou-se ao espelho e espalmou as faces para sacudir o pó. Mirou-se mais de perto, distinguindo traços no rosto que lhe recordavam os tempos em Muaná quando mocinha, nas Ilhas quando se negava a dizer de quem tivera o filho — o seu primeiro filho que se afogou —, curvas no nariz, nas sobrancelhas, a golpe de um estrepe, as graduações da pele com uma leve palidez na face, em tudo isto a lembrança de que dantes se considerava uma preta passável. A boca avançou como uma proa sobre o espelho, a testa franziu e depois a grave investigação nos olhos como se quisesse ver, refletido lá no fundo, algo do que acontecerá de súbito.
Examinou os dentes que descascavam cocos, castanhas, canas, duros, brancos, afiados como laminas. E logo a língua, que ela esticou e examinou demoradamente. Isto pareceu a Alfredo de um capricho impróprio da mãe.
Bruscamente disse ela:
— Hei de cortar a língua de um, ainda. Hei de cortar. Amolo a faca e corto. 0u corto com meus dentes. Rá! Que duvidem. E que duvidem.
Isto o encheu de pasmo. Por quê? Que lhe fizeram? E o morno pensou na velha faca americana da cozinha, infalível na sangria dos porcos e dos patos, fácil quando cortava o fígado em fatias. Pensou na pedra de amolar que se adelgaçava, gastando-se para que os aços cortassem e matassem mais, sangrassem melhor, mergulhando a fundo no inocente coração dos bichos. Observava que certas pessoas amolavam vagarosamente o fio dos terçados, com latentes intenções assassinas. Sua mãe teria amolado a faca americana para isso? Como seria possível amolar os dentes para [100] cravá-los numa língua e cortá-la pela raiz? E que língua? A de Lucíola? A da Raquel? A dos bêbados? A da d. Doduca, língua rápida e pouco visível que enrodilhava tudo e tudo envenenava?
Agora via-a com a boca aberta de uma fera no espelho gasto e coberto de pó de arroz. Depois, ela torceu o beiço, soprou o pó do espelho e exclamou:
— Porcaria este espelho. Não sei quando compro outro.,
Alfredo, então, imaginou a idade do velho espelho. A vaidade havia-lhe consumido o aço e em troca muitas e muitas fisionomias estavam ali acumuladas, jovens agora velhas, bonitas hoje monas, as jovens rindo das velhas em que se transformaram e que iam ali se mirar como se quisessem reaver o rosto perdido. Estavam espiando agora d. Amélia, talvez adivinhando-lhe os sentimentos e as intenções.
D. Amélia foi calçar-se. Enfiou as pernas nas meias castanhas e longas até acima dos joelhos onde fez um nó para Alfredo sempre incompreensível, atribuído a insondáveis poderes femininos.
Bateu fortemente os pés dentro dos sapatos com uma insistência que Alfredo considerou implicante. Mariinha veio farejar aqueles preparativos suspeitos, a pergunta na ponta da língua. Mas d. Amélia, novamente com os dedos nos lábios, foi buscar mel com farinha num pires e deu à filha.
Major Alberto, na rede, coçando a perna nua, lia o Depois da Morte, livro espírita contra o qual escrevia notas à margem que desenvolvia nas suas conversações depois do jantar.
— Bem, disse d. Amélia, estou pronta. Assim parece. Mas amarre os sapatos, meu filho. Espere. Sente aqui na mala. Suspenda o pé. Não passou um pano no sapato. Quanta terra, meu Deus.
O bico está que nem a proa da montaria da Mariquinha. E a graxa onde está, a graxa do teu pai?
— Estorricou.
— Como estorricou?
— Destampada. Mariinha pegou, passou o resto na cara do gato.
Aí d. Amélia riu, com a cabeça oscilando sobre os pés do [101] menino, segurando-lhe as pontas dos cordões; riu-se como se estivesse soluçando. Tentou cantar baixinho, fez um muxoxo e resolveu iniciar aquela operação sempre difícil para Alfredo que era amarrar os sapatos com um nó bem feito.
Sentado na mala, vendo-a ajoelhada a amarrar-lhe os sapatos, como a empregada Sílvia fazia com os filhos do promotor, Alfredo sentiu que não vinha sendo bom filho como tanto sua mãe merecia. A onda do cheiro dela amolecia-o. O molhado rumor da tarde de São Marçal, na rua encharcada, distanciava-se. Sua mãe era uma escrava dele, preta escrava. As mãos dela trabalhavam com ~ ligeireza e a habilidade de uma mucama rendeira. Aquela cabeça baixa... Nem um fio branco nos cabelos maciços. Nem um fio. E foi um susto quando a mãe, de súbito, levantou o rosto escuro e serio para ele, cheio de carinhosa censura.
— Pronto, filhotão sem préstimo. Nunca saberá amarrar os sapatos. Nunca. E como o pai. Nem no colégio, se você for, um dia. Parece que nunca calçou sapato. Noutra encarnação, era um... como é que teu pai diz dos índios? Um... neengaíba.
E numa voz baixa:
— Bem, vamos. Dei muito mel pra Mariinha se entreter. Um mel puxa-puxa. Herdou do seu Alberto essa danação pelo mel grosso. Você também herdou. Não negará nunca que é filho de seu pai papa-mel. E gosta de enrolar o pescoço com os fios do mel que ela vai espichando com a colher e com os dedos. Na certa está entretida nisso.
Quando ela se pôs de pé parecia mais alta, e havia no rosto sinais de um esforço que, segundo o menino, deveria ter sido doloroso.
Depois da trovoada e a chuva, o fim da tarde serenou num rosa diluído em nuvens roxas. A Alfredo pareceu que alguém andara espremendo pixunas [fruto silvestre] no céu baixo da outra margem do rio. Sobre a vila, o céu se foi tornando limpo e profundo para a noite, [102] já sem as iraúnas em bandos durante a manhã pelas campinas, negras que reluziam.
Saíram os dois pela porta dos fundos.
Ganharam a rua.
Lucíola estava na janela; acima da casa de Salu, reunia-se gente para a recepção do boi-bumbá que vinha do igarapé do Puca, baixo Arari.
Mãe adiante, filho atrás, os dois evitavam as inúmeras poças.
D. Amélia sentia um ardor no rosto, cheia de obscuras ansiedades e ímpetos. Alfredo via-lhe o ar franzido, a decisão na boca — sabia andar de sapatos como uma mulher da cidade. Depois da chuva, a velha casa de Lucíola apresentava um aspecto de ruína e solidão de impressionar o menino. A moça respondeu ao boa tarde de d. Amélia, alisando a testa que brilhava, larga e amarela, no último raio de sol.
Que fará ela com o menino? perguntou Lucíola mentalmente, agora com a mão em pala sobre os olhos para poder observar melhor a “mãe de seu filho”. Uma espécie de rancor e compaixão sentiu. Fará por certo torturar o menino naquele passeio. Como vai toda emproada como se fosse mesmo a senhora do secretário. Cairá na lama, com o coitadinho aos pé dela, chorando.
Lucíola olhou o céu, um urubu voando muito alto contra o vento parecia estender suas asas noturnas, crescendo sobre a vila.
O menino afundou os sapatos numa poça e sua mãe ralhou com um muxoxo contra aquela incurável distração. Ela caminhava séria, trescalante, dona daquela noite. Deu a mão ao menino e disse:
— Por que não deu boa tarde a ela? Olhe, não largue minha mão. Vai escurecer muito e você sabe que não enxerga bem. Por que não falou com nhá Lucíola?
Ele não respondeu a uma coisa que nunca a mãe havia antes perguntado e procurou substituir as suas velhas e novas apreensões pela curiosidade do boi-bumbá tão anunciado e por todos divertimentos juninos daquela noite.
— Meu filho, vai chuviscar. Volta e vai buscar a sombrinha. Mas cuidado pra que Mariinha não bispe. Se ela bispar, tás perdido. Não podes sair e eu vou só.
[103] Alfredo apanhou a sombrinha, já muito usada. Experimentou abri-la, não soube. Uma pequena e repentina covardia pesou no seu coração. Seria melhor ficar em casa. Deixá-la seguir sozinha, sabe lá com que propósitos de arrancar a língua a alguém. Ficaria em casa esperando os acontecimentos, desfiando mel em companhia da irmã, durante o capricho ou a vingança da mãe.
No corredor, já de volta, viu na mesa do filtro um limão caiana e uma sede daquele limão fê-lo chupar avidamente o sumo que lhe queimava os lábios e a língua, como se castigasse a sua covardia. Era sede daquela aventura, traição a Mariinha, esquecimento do pai? Não sabia porque chupara com tanta sede aquela fruta tão acida. E não pôde deixar de espiar a irmã sentadinha, tão entretida, a um canto da varanda. Lambia os bracinhos cheios de mel. O pescoço era mel puro. De vez em quando ela sorria com essa felicidade secreta e indefesa das crianças quando brincam sós. Fios de mel pendiam de entre os fios do cabelo.
Mas espocou um foguete na curva do rio abaixo, e logo três apitos da lancha que trazia o boi. Alfredo avançou pelo aterro e viu a correria dos moleques espirrando lama por todos os lados, o cordão do boi local em forma, seguindo para o trapiche público, outro foguete, som de flauta e uma afinação de cavaquinho, a toalha da bandeja de arroz doce caiu na lama; foguetes sucederam-se no rio, outros responderam na cabeça do trapiche. Maracás abrigaram na estreita varanda de parapeito, defronte do xadrez foi assustado que ouviu a mãe, já lhe tomando a sombrinha, dizer num gracejo:
— Vamos. Vamos ver chegar esse tal do boi do Situba.
E seria:
— Viste a papa-mel? Na certa, ela deve estar agora dentro do pote de mel feito uma formiga. Vamos.
Nisto, súbita e ruidosa pancada de chuva, de pingos graúdos, fez debandar a pequena massa que se comprimia no trapiche.
D. Amélia e o filho, sob a minguada sombrinha, se enfiaram pelos fundos da Intendência que ficava ao lado do trapiche e se abrigavam na estreita varanda de parapeito, defronte do xadrez municipal. A escuridão da noite caiu como lama sobre a chuva [104] que crepitava no telhado gotejante, sobre as vozes dispersas dos homens, maracás, bater de pés na madeira do trapiche, curtas risadas que eram como gritos de marrecas desgarradas do bando.
Junto às grades, na luz suja do xadrez, o menino lembrou a tarde em que a mãe o mandou a um preso de justiça para cortar cabelo. Estava cabeludo e piolhento. O preso, à porta do xadrez, abatia a gaforinha a golpes macios de tesoura, delicado como barbeiro de cidade, mas silencioso. Era muito negro e alto. Seu rosto suando, gotejava num piche fresco. Alguns detalhes do seu crime haviam sido descritos no chalé pelo Rodolfo: a mulher dormia debaixo do mosquiteiro na casa do comerciante, dono dela. Ele entrou no quarto escuro; já dentro do mosquiteiro, contemplou por algum tempo a sempre desejada e impossível amante agora adormecida e marcou bem o lugar do coração. Foi uma punhalada só. Depois, o comerciante, na outra rede, acordou ouvindo um gorgolejo no soalho. O sangue escoava como de uma torneira aberta. Alfredo ficou com aquele gorgolejo na imaginação. Acreditava que o sangue era sempre silencioso, mesmo borbotando de um peito apunhalado. E esse rumor de sangue escorrendo debaixo do mosquiteiro dava-lhe a impressão de garrafas que se mergulham na água para enchê-las. Também o sangue ensopava as pontas do mosquiteiro que se tornaria depois inteiramente vermelho.
A esse homem, agora de mãos tão humildes e sem culpa, Alfredo entregava a cabeça. O preso cortava o cabelo no mesmo silêncio com que matou a mulher no sono. Havia um fulgor úmido no branco dos seus olhos, O menino sentia aquele hálito assassino sobre os cabelos, a nuca. As mãos dele, com delicadeza, ajeitavam-lhe a cabeça para a posição conveniente e a tesoura ia ceifando aquela capoeira onde os piolhos acampavam.
— Mas não tinha... então... piolho... Mas ah! Foi o gracejo do preso ao terminar, a sorrir malicioso, parecendo ao mesmo tempo pedir desculpas, rasgando maciamente a boca onde aflorava uma espessa dentadura de canibal. E aí Alfredo, que se sentiu humilhado com a pilhéria, cheio de vergonha por ter apanhado piolhos, compreendeu, achando nisso uma forma de sua íntima desforra. E indagou a si mesmo por que o negro usara o punhal e não aqueles [105] dentes. Por certo eram mais certeiros e mergulhariam com maior facilidade no peito da mulher para arrancar-lhe o coração. Agora essa lembrança associava-se à frase da mãe ao ameaçar que havia ainda de cortar a língua a alguém.
Tentou olhar para o fundo do xadrez e viu a lamparina enegrecendo a parede. O tamborete, o caco de cuja, um couro de boi e a rede funda de onde subia um lento fumo de cachimbo. Lá estaria outro assassino ou um daqueles indecifráveis ladrões de gado que vinham dos campos e ficavam servindo de bois cargueiros hs famílias das autoridades. Só se sentiam livres quando voltavam à noitinha para o xadrez, trancafiados pelo velho Secundino. Para Alfredo, o velho carcereiro era pior que os assassinos e ladrões, a sacudir continuamente aquelas enferrujadas chaves na mão, metendo medo às crianças, trancando a porta em meio de um acesso de sua velha tosse crônica. Havia de apanhar aquelas chaves do velho Secundino e atirá-las no rio.
Pôs-se na ponta dos pés para espiar melhor e descobrir quem cachimbava na rede. Seria um daqueles invariáveis bêbados que passam as tardes gritando, no seu desespero lancinante quando, depois de espancados, são cuspidos sobre o chão do xadrez. Aqui Alfredo se lembrou que Dionízio estava moribundo.
Por instantes, o cachimbo tornava-se suspenso sobre a rede, depois recolhia-se como a cabeça de uma tartaruga. Seguia-se uma vagarosa fumarada que adquiria estranha nitidez com o barulho da chuva no telhado. E assim Alfredo planejou que ao voltar iria ver Dionízio, tantas e tantas vezes atirado naquele xadrez. Havia de lançar as velhas chaves do velho Secundino no rio.
D. Amélia se concentrava numa espera cheia de raiva contra o tempo, impaciência contra a demora, esquecimento repentino da misteriosa vingança. E nisto lhe veio a recordação de um distante carnaval em Muaná, quando andava ainda solta, solta... Tinha sido depois do primeiro filho e daquele canoeiro que lhe propôs levá-la para o Guamá. A figura do homem, atravessando-lhe a memória, dissolvia-se entre outros homens que se misturavam com [106] as palmeiras e as palhoças na sombra selvagem. A voz do canoeiro ia fugindo, falava-lhe de cima do toldo, de cima dos cabos, do bojo das velas, dos manivais maduros do Guamá. Seu passado de moça e de mãe de primeiro filho partia-se em episódios contraditórios, cenas truncadas, encontros com este e aquele irmão errante. Olhando-a, passava major Alberto, no caminho, muito branco, o andar macio de um tranqüilo caçador. Mas de todo esse passado revolvido, irrompeu de novo o carnaval.
— Sim, disse consigo, esta noite me fez lembrar aquele carnaval.
As figuras fugiam, uma voz familiar, em seguida, arrastava-as no fio da lembrança.
— Que carnaval aquele... Foi o último...
O último de sua vida solta, porque semanas depois, major Alberto detinha-se, chamava-a para convidá-la a vir em sua companhia. Ficaram bem no meio de quatro palmeiras. Alguns riscos de sombra desciam das palmas ariscas ao vento. Ela mais alta um pouco, o rosto luzindo de uma seiva escura. Ele, 46 anos, a cabeça sólida no tronco de raízes patriarcais. Sob o vento, as palmeiras faziam um fino, leve balanço nupcial. Houve um segundo em que os dois troncos humanos e os caules não se distinguiam mais, o rosto preto e o rosto branco se cobriam do sol a pino. Uma palma desprendeu-se e tombou sobre o colo da mulher que a ostentou como um estandarte, escondendo, num riso silencioso, os dentes brancos entre as talas verdes.
Derradeiro carnaval aquele. Alfredo perguntou sem muita curiosidade: por que? Como ela não respondesse, ele concordou que seria melhor assim. Talvez fosse uma coisa vergonhosa, que carnaval e onde?
O carnaval surgira com a doença e morte do Damiano, um negro vendedor de açaí no Ver-o-Peso. O que tinha de negro tinha de festeiro. E fora ele que inventara o cordão “Alegres por toda a vida” para aquele carnaval. Mas uma onda de paludismo cobria a vila. Damiano sentiu o primeiro sinal da malária quando, debruçado no balcão, contava e recontava o dinheiro para comprar alvaiade. Faltavam seiscentos réis. Havia escolhido moças que pudessem agüentar entrudo à beira do poço da casa de siá Lúcia. [107] Amélia foi escolhida. Seria um carnaval bem sujo — o verdadeiro entrudo consistia em atirar lama no parceiro, empurrar o parceiro na vala, cobrir de tisna as amigas que, embora febrentas, se metiam — tão amarelas, coitadas! — nas largas saias de chitão vermelho.
Ela e seus amigos voltaram do enterro de Damiano dispostos a brincar, a arranjar máscaras, a fazer do terreiro de siá Lúcia um campo de entrudo como nunca houve na vila. Damiano, no dia da morte, não havia dito que não deixassem de brincar? Por causa de mim, não, murmurou. Algumas horas antes da agonia, pegou a mão de Amélia e disse:
— Olha, Amélia, tu bem sabia que eu gostava de ti. O povo falou mal de nós dois. Foi uma fama sem proveito. Tudo não passava de uma falância. Tu sempre me deste o desprezo. Não? Não era? Então tu não sabe o que é desprezo.
Todo o mundo então olhou surpreendido para Amélia, convencidos todos afinal de que nunca tinha havido nada entre aqueles dois. Amélia, de rosto enxuto sentiu os dedos do doente escorregarem e caírem no lençol. Era um triste triunfo o seu sobre a maldade alheia. Que falassem, que todos continuassem a falar, contanto que Damiano não levasse consigo nem revelasse amanho ressentimento dela. E assim saía de uma conversa para outra, e pior, que se espalharia por toda a vila. Amélia se retirou do quarto com um indefinível sentimento de acusação ao doente. Que ele a não perseguisse, era o que pedia a seu anjo da guarda.
Quando a amiga se aproximou dela e lhe disse que Damiano tinha expirado, Amélia segurou o esteio do parapeito, como se apertasse a mão do morto. E a amiga lhe pediu:
— Por que tu não chora, Amélia? Chora que te faz bem.
Formados depois no cordão do Damiano, Amélia e seus amigos mandaram parar os sinos que dobravam ainda. Era pedido de Damiano, tinham que brincar. Haviam de fazer um entrudo em homenagem ao falecido, encher a vila de máscaras modeladas no barro, meter medo às crianças, vingar-se dos desafetos, cobrindo-os de lama e zarcão.
Mas foi um tamanho espanto ao ouvirem dobrar os sinos novamente! Quem estaria fazendo aquilo? Amélia correu, subiu a [108] torre e quem encontrou lá? A Esmeralda, uma velha rapariga de Damiano.
— Estou te mostrando que tenho sentimento. Aqui se prova quem mesmo gostava dele.
Ambas estavam debaixo da boca do sino grande, a última ressonância se diluía no cheiro dos morcegos, no ar quente. Para abafar a resposta de Amélia, Esmeralda puxou a corda do sino que dobrou com um som enorme.
— Esmeralda, não te tirei Damiano. Ele até que levou queixa de mim, mea mana. Infelizmente nunca pude gostar dele. Esmeralda, desce comigo.
Esmeralda, excitada pelo dobre imenso, olhava para a rival como se fosse lançá-la de cima da torre, enforcá-la na corda do sino. Mas Amélia debruçou-se na janela da torre e acenou chamando os seus amigos, que, fantasiados, subiram, pararam o sino e testemunharam perante Esmeralda o que se passou nas últimas horas de Damiano. Esmeralda ouviu e no meio da escada exclamou:
— Amélia, ainda assim tu prova tua falta de sentimento. Em vez de sentir isso... tu festejas a morte dele. Até onde chegou o teu desprezo. Mas não faltará castigo.
Na igreja vazia e fechada, suas palavras ressoaram como uma imprecação.
O cordão se alinhou na rua. Sob a máscara que lhe cobria o rosto de barro, Amélia não chorava. Resolveram cantar. Suas vozes tinham tal lamentação e tal súplica que imediatamente se calaram. Atrás, os moleques, com seus “papagaios” debaixo do braço, calados e rotos, como se estivessem brincando de enjeitados, fantasiados de infelizes. Não havia serpentina nem lança-perfume. Não havia arlequim nem colombinas. Jerônimo quis aparecer de pierrot, mas o máximo que pôde foi se fazer de palhaço, com uma velha sombrinha aberta, as coxas tintas de urucu, a cicatriz redonda de uma ferida na perna como um pompom.
O cordão caminhou. Parou defronte da casa de siá Lúcia que tinha um parapeito para a rua com cortina de miriti. Que era feito das filhas de siá Lúcia? O bombo deixou de bater. Os mascarados ficaram em silêncio. O sol da tarde dava um brilho duro às [109] mascaras, às caras pintadas, às roupas enlameadas e pegajosas. Não sabiam o que fazer. Levavam cujas de lama, cal, tisna, zarcão, só faltava farinha de trigo porque na padaria havia apenas meia saca para uns diazinhos de pão. O jeito era enfrentar com aquelas poucas armas, os adversários, estes armados de pimentas, mostarda, urina choca e alvaiade. E na frente da casa de siá Lúcia, o cordão continuava parado. Por que não iam para a casa dos Almeidas onde a gorda d. Tulha estava pronta a investir com as suas banhas, o seu carvão moído e o seu sal? O entrudo ali poderia salvar o domingo. Dali as mulheres sairiam desgrenhadas, imundas, em trapos, no rumo do igarapé e atrás os homens, com as máscaras entaladas no braço e no pescoço, cambaleando.
— Ó siá Lúcia! Ó Chica, ó Estefania, ó três irmãs!
A casa não respondia. Os instrumentos de música jaziam no chão. Amélia lembrava os outros carnavais que brincara com as filhas de siá Lúcia. Com elas engolia confete — tempo em que havia confete! — e comia depois na quarta-feira o capado das Cinzas, só banha e toucinho, que o velho escrivão Daniel preparava para festejar a morte do carnaval, de que tinha tanto ódio.
O cordão viu siá Lúcia aparecer com uma papa de remédio na mio. A mulher deu com os mascarados, com os instrumentos de música, os ingredientes do entrudo, os homens suados, as mulheres suadas. Então notaram que ela exibia uma máscara também. Chorava aquela mulher que durante 30 anos, na vila, soubera comandar entrudos tremendos, grossas lutas em torno do poço e das valas, com a alegria e a resistência de três homens juntos. Rolava o remédio entre as mãos, apontando para o quarto onde as três filhas deliravam de febre. Penduradas no parapeito coziam ao sal as máscaras inúteis. Todos foram espiar pela abertura das palhas do quarto. Uma das moças, no seu delírio, de bruços na esteira, chamava Damiano pedindo-lhe um saco de confete. Outra gemia, debatendo-se na rede, numa surda confissão: “Ele me fez mal, ele me fez mal”. A terceira tinha os olhos fechados, a boca oculta na ponta do lençol.
Jerônimo, então, fechou a sombrinha. Amélia tirou a máscara. Domingos Xavier guardou o trombone. O cordão se [110] desmanchou ali mesmo, máscaras e cuias de entrudo jogadas ao chão. Amélia caminhava sozinha, adiante iam Osório e Estandico nos fraques, trazidos de Belém pelo finado Eusébio, do tempo em que era da Delegacia Fiscal. Sob a onda de mosquitos que espalhavam a febre em Muaná, a tarde caiu. A noite, Amélia foi fazer quarto da primeira filha de siá Lúcia. Na terça-feira gorda, o pessoal do cordão “Alegres por toda a vida” acompanhava o enterro da terceira.
— Um carnaval e tanto, resmungou Amélia, olhando para o trapiche. Dispersando os detritos desse carnaval na memória, as quatro palmeiras varriam do céu o amor de Damiano, a praga de Esmeralda, entreabrindo as palmas para que se despencasse do alto o rosto branco do Major.
— Vamos, meu filho. Esta noite é como aquele carnaval... Vamos.
Puxou o filho pela blusa e disse:
— A chuva está passando, seu distraído. Vamos que a lancha está encosta-não-encosta.
— Mamãe, depois a gente pode ir ver Dionízio? Coitado, ele bebia... não? Está morrendo da bebida?
D. Amélia, abrindo a sombrinha, não respondeu e os seus aromas entravam pelas grades do xadrez.
Subiram ao trapiche, misturando-se no meio da massa e entre os personagens do “Caprichoso”. As vestimentas pingavam. O chuvisco cessou e a lancha atracava com a máquina a chiar, o que a Alfredo pareceu uma grande bola de futebol esvaziando-se. Com a escuridão, faróis acesos e duas ou mais lanternas piscavam aqui e ali, menos para iluminar do que por vaidosa exibição de seus donos. Com a maré baixa, não houve possibilidade de colocar a estiva em cima, mas somente no penúltimo degrau da escada.
Alfredo inclinou-se, atento: a lancha bufava, a sineta irritada mandava atrás e adiante, um cabo foi lançado no escuro para o esteio grande sob o gluglu lá no fundo da hélice. As lanchas fascinavam-no: aquele cheiro de viagem que vinha do vapor, dos cabos, das sanefas, dos tripulantes, de todas as coisas e vozes a bordo... A hélice ao mesmo tempo revolvia a água lodosa e o sangue [111] do coração do menino faminto de partir.
Alfredo passou a mão pelos olhos, fez-se um silêncio em torno como a um sinal convencionado. D. Amélia tinha o rosto fundido na treva. Alfredo apertou-lhe nervosamente a mão e se tomou de susto quando, de repente, romperam tambores na lancha, tão violentos e agressivos que pareciam subir pelo trapiche, invadindo a noite. Compreendeu que o seu movimento de susto, surpresa e mesmo assombro era também o daquela gente que ali estava. Não se usavam tambores nos bois-bumbás em Cachoeira. Tambor só mesmo o do rufo na banda e os da Coroa do Divino Espírito Santo, recolhidos pela polícia à ordem do arcebispo. Era, com efeito, uma nota de escândalo aquela invenção do Situba e com este agravo: não dera um só aviso, ninguém de fato sabia.
Para marcar o efeito, o próprio Situba pedira silêncio como se fosse saudar Cachoeira, pois tinha faina de orador no baixo Arari e entre os embarcadiços. O sajica mestre de lancha fizera aquilo para surpreender e confundir Cachoeira. Seria nova moda em Belém? Interrogou-se Alfredo. Eis aí a vantagem de andar embarcado, de comandar uma lancha, subir e descer o rio... A massa do trapiche excitava-se cada vez mais diante do tantam redondo batendo freneticamente dentro da lancha. Foi então que um grito rompeu da massa:
— Como é? É um boi ou o Divino Espírito Santo? Me tirem desta dúvida.
— É o Espírito Santo brincando de boi-bumbá.
— A Coroa virou boi?
— E o Espírito Santo para enganar a polícia do bispo.
Um psiu encheu o trapiche. E outro grito caiu sobre a lancha:
— E boi ou batalhão? Ou é astúcia do Divino entrando de contrabando em Cachoeira?
Responderam da lancha:
— E boi, vocês vão ver. E boi.
— Boi não tem tambor. É boi militar? Boi guerreiro?
Novamente, desta vez com força, um psiu longo dos responsáveis pela recepção dominou aquilo que poderia generalizar-se numa vaia ao boi que chegava. E logo, de entre os do “Caprichoso”, maracás se agitaram acompanhando com cordialidade o ritmo [112] insolente dos tambores do Situba. Um foguete chiou sem espocar. Alguém perguntou pelo nome do boi. E o “Garantido”, responderam simultaneamente da lancha e do trapiche. Outro foguete caiu no meio do Arari que se escondia, vazando na escuridão. Perto, Alfredo escutou:
— Quantos tambores?
— Pelo som parece uma dúzia.
— Dúzia nada, três.
— Se sabia por que perguntou?
— Fazia mal então perguntar?
— Não sou preso para estar respondendo ao tenente. Não perguntasse.
— Facilita e depois te queixa que te botei de riba deste trapiche pro tijuco.
— Está pra nascer quem fará isto com seu Degas. E não te esquece de dizer pra maninha que me espere esta noite.
— Ela mandou dizer que me desse aí uns vinte bagarotes... Passa, passa o milho.
— Cunhado caro esse! Ei! Ei! Não brinca. Não empurra.
D. Amélia interveio.
— Se acomodem. Acabam se empurrando um ao outro na lama.
— Ah, é madrinha Amélia? Abençoa?
Os tambores sustentavam o fôlego. Os maracás silenciaram. Subiu da lancha a voz, como um aboio, em tom saudoso, que falava do prazer da chegada. O “Garantido” visitava Cachoeira com muita satisfação. Era Situba cantando. Então os “índios”, à luz do farol vermelho da lancha, subiram ao toldo e estenderam os seus arcos e flechas. Os cocares e as tangas, os tacapes e as miçangas brilhavam furtivamente. E d. Amélia pôs-se a rir. Alfredo tentou compreender. Por que o boi custava a desembarcar? Ao clarão rápido de uma lanterna viu a mãe com as mãos na boca.
— Que é isso, mamãe? Não quer voltar pra casa?
— Está com medo dos tambores e dos índios? Aqueles índios do Puca são índios de verdade, pilheriou.
— Mas a senhora estava com as mãos na boca.
— Só por isto? Que é que tem?
— A senhora estava com as mãos na boca. Parecia que estava [113] agüentando vômito.
Ora, meu filho, vamos ver, é que é, o desembarque. Tirei esta noite para ver os bichos. Agora que está se parecendo com aquele carnaval, esta...
— Mas por que a senhora estava com as mãos na boca?
Mas, meu Deus, se impressionou tanto? Foi pra não rir alto. Achei graça. Me lembrei do carnaval, me deu uma vontade de chorar, agora... Naquele tempo não chorei. Mas agora... E sua mãe não pode achar graça à toa?
— Fiquei assim porque a senhora estava com as mãos na boca...
D. Amélia segurou a mão do filho que se sentia zonzo. Tentando varar a massa, um bêbado ergui a os punhos frouxos contra os tambores.
— Isto nunca que foi um boi. Isto é pura pajelança do Puca, “Que os pariu” Que os pariu. Metam essa lancha no fundo. Situba tem parte com o mal-assombrado. Que vá bater tambor com os jacarés. Que os pariu. Isto está escuro que é uma coisa desconforme. Que os pariu. O intendente devia mandar contratar uns mil poraquês para ligar a luz elétrica. Vou falar isto com o major Alberto. Que os pariu. Chamem os poraquês pra fazer iluminação. Que os pariu. Ou chamem então as mulheres prenhas para dar a luz. As prenhas. Só as prenhas. E aposto que são os pica-paus que estio batendo nos tambores. Conheço. Esse Situba é mestre de lancha fantasma. O couro desses tambores é couro curtido das raparigas que ele papou na beirada, na roça, no barranco quando desce no inverno. Eu vi. Estava que nem um peixe-boi na canarana. O Situba! dá primeiro conta das pequenas que tu comeste no Puca. As cordas do teu violão são de barbatana de boto. A lancha entrava no igarapé em seco, arrecadava as infelizes dos jiraus. Que os pariu. Que os pariu. Se serve da lancha para isso. A tripa do boi e um boto tucuxi. Ponham esses tambores dentro d’água. Experimentem rezar que a lancha some num átimo... E pura lancha fantasma.
Alfredo procurava saber quem era o bêbado, seu falatório se perdia na massa estonteada com os tambores renitentes. Mas d. Amélia disse:
— Não vá pra perto dele. É o suplente não sei do quê. O seu [114] “Farinha D’água.”
— O seu “Farinha D’água?” Mas ele está se ajoelhando, de mãos postas... foi a exclamação de uma mulher.
— Sopre na lancha, seu “Farinha”. Não é preciso rezar. O seu bafo faz desaparecer tudo. Sopre...
Era um brado grosso da ponta do trapiche. O bêbado rezava:
Creio em Deus Padre... Creio.
A reza enrolava. “Ó mãe santíssima...” Como não pudesse continuar largou um “que os pariu” e ergueu-se numa guinada.
— Hoje e a noite do seu “Farinha D’água”. A noite é dele, disse um caboclo que catingava feio na escuridão. O bêbado voltava a rezar e a praguejar.
Vendo-o ajoelhado e a repetir o “que os pariu”, Alfredo concluiu amargamente que era também a noite de sua mãe.
Os “índios” foram os primeiros a saltar. Um deles, tentando exibir-se com um salto de baliza na estiva resvaladia, tombou n’água. Entre os gritos de “caiu! caiu!”, “salvem o índio”, “foi o Teteu”, Alfredo acreditou que o pobre teria espatifado a cabeça nos tocos da beira ou partido a espinha no costado da lancha. Faróis e lanternas inclinaram-se sobre aquilo que para Alfredo era um abismo. Pôde, no entanto, ver o caboclo, já de pé, no tijuco em que escorregou, mas agilmente equilibrou-se para lançar a cabeça à luz dos faróis num gesto de triunfo, convencimento e ao mesmo tempo de malícia. Ao subir a escada, as lanternas fixaram-se nele. Era baixo, jovem, de maçãs agudas, grosso de urucu e lama, a cabeleira de “índio” gotejando na mão, o cocar partido, a espessa tanga de penas e uma escoriação sangrando na coxa nua. Tinha uma grosseira tatuagem no peito — rã, peixe — indecifrável e dolorosa para Alfredo que a viu como se ela também se imprimisse em sua carne. Fedia intensamente a tijuco e, enfrentando a luz, ria, como se viesse do fundo de alguma igaçaba perdida no rio, para participar daquela festa. Logo se meteu no bando dentro da semiescuridão em que sucessivos fósforos acesos acusavam caras fugitivas, bocas de bronze, cabeleiras enormes, enormes [115] tangas de pena, espelhinhos, miçangas, colares, maracás, pés desconformes que pulavam, pés de borracha e de penas. “Índios” escuros e avermelhados dançavam com a toada do Situba que desembarcara cantando ao som agora mais vagaroso dos tambores, cavaquinhos, flauta, coro dos vaqueiros, a voz de uma mulher, muito rouca. Sempre mudos, como se não soubessem falar senão a língua de sua tribo e tintos de urucu maciço, eram verdadeiramente índios para Alfredo. Queriam viver assim mesmo, compreendeu. Sua mãe ao lado murmurava qualquer coisa incompreensível. E o que mais espantava o menino: no meio dos pulos e da dança, entre arcos, flechas, maracás e turbilhões de penas, um deles tinha tempo ainda de puxar tranqüilamente o seu trago de fumo. Ao faiscar do cigarro na boca, uns olhos de jacaré, cor de igapó para onde teria de voltar.
Alfredo então teve um movimento de receio num impulso de fugir. D. Amélia voltou-se para ele, abanando sucessivamente a cabeça:
— Não viste inda o boi? Presta atenção. Esta é a última noite. É São Marçal.
— Isto lá é festa?
— E o que é?
O menino coçou a cabeça sob a dificuldade da resposta. Afinal queria compreender melhor aqueles divertimentos que fediam a suor, a peixe, a urucu, a cachaça e a tijuco. A coxa do índio sangrava, mas os dentes dele alvejavam num riso de presumida satisfação. Os tambores sacudiam aqueles corpos, aquelas tangas, aqueles falsos adornos, numa excitação crescente. Alfredo sentiu-se só. Transportou-se por um instante para o silêncio em que estaria Mariinha, já adormecida nos braços do pai ou no chão. As formigas poderiam atacá-la por causa do mel. A mãe deveria voltar para dar-lhe um banho e fazê-la dormir em seu colo. E se fosse brincar com as caturras e acender papel no candeeiro?
— Mamãe, a senhora se esqueceu do jantar do papai.
— Ele não quis jantar hoje. Ficou mal comigo. Teu pai tem desses repentes.
— Por que?
[116] — Enjoado. Paixão. Fastio de apaixonado.
— Mamãe deu agora para dizer só bobagens.
— E tu sabe o que se passa dentro da cabeça do teu pai?
Alfredo calou-se. Que acontecia em sua mãe numa noite absurda como aquela? E seu pensamento apanhou o fundo do corredor onde o velho Dionízio agonizava. Dionízio — que desarmava a ponte do chalé, gritava nas noites de chuva e de enchente no meio da água, pedindo passagem, pegava cascavéis a unha — pois tinha a mão curada — Dionízio que queimou a barraca de Felícia. Também brincara no boi-bumbá. Também pulou fogueira alta, na mocidade, como ele dizia. Foi vaqueiro, pai Francisco, “tripa” do Caprichoso, tuxaua, depois, por causa da bebida, reduzido a simples agregado, carregando farol, vestimentas, instrumentos, vestindo a indiada, até que foi de uma vez eliminado porque bebia desconforme. Era mestre na arte de matar o “Caprichoso” ao fim dos festejos, quando, ao empunhar a faca nova, sangrava o pescoço de pano da vítima, onde por dentro se alojava um garrafão de vinho aberto no mesmo instante pela “tripa” que se conservava debaixo do boi. O sangue jorrava no chão, nas cuias, nos copos. Dionízio aparava o vinho com a boca numa avidez sombria. Os tambores retumbavam em torno da agonia de Dionízio e principiou a chuviscar.
— Mamãe, vamos pra casa.
D. Amélia, com a sombrinha aberta, enfiou por entre as gentes para ver, de perto, o boi que desembarcava. Tendo largado a mão do filho, gritava por este:
— Ande, seu pateta. Patetinha. E um moleza. Dê sua mão, ande, seu zuruó.
Ao ver-se chamado assim diante de todo o mundo — coisa que Lucíola jamais faria — Alfredo fingiu não escutar os gritos meio roucos da mãe e colocou-se atrás de um homem coberto por uma pele de onça e que suspendia um farol esfumaçado.
— Onde está? Um pateta. Alfredo!
Um braço envolveu o menino e o levou facilmente para d. Amélia.
— Que estava fazendo? Não lhe disse que não se largasse de [117] mea mão? Obrigado, Azarias. Não se deixe apertar. Vamos ver o boi. Mas minha Nossa Senhora, que boi. Um boizinho. Um bezerro...
E a massa começou a rir ao ver, saltando da lancha, qualquer coisa alvacenta que pulava no trapiche de um lado e de outro.
— Mas isso aí é boi? Ou bezerro de chifre? E uma cutia?
— Cutia e a vovozinha, cunhado. A mana vai bem?
— É boi criado por anta. Mamou na mãe-d’água. O chiqueiro deste bezerro é no fundo.
Era uma conversação aos gritos e entre injúrias, em que as visagens e as lendas transfiguravam os homens. Situba começou a cantar a chegada do boi.
“Garantido, boi de fama...” Alfredo notou os pés de quem dançava debaixo do boi. Deveriam ser de menino e do seu tamanho. Surpreendeu-se invejando-o. Divertia-se ali debaixo do “Garantido”, um desconhecido curumim, bem ensaiado para dançar, naturalmente suando apesar do chuvisco. Olhava pelos olhos de vidro do boi, descalço. E Alfredo imaginou um boi que tivesse os pés de homem, aparecendo à noite pelos currais e salas de Cachoeira, ora nas festas, ora nos velórios. E ali ao som dos tambores dançava um boi com pés de menino, inclinando a cabeça às palavras de saudação de Situba, d. Amélia aplaudia, o que pareceu incompreensível ao filho.
Os dois cordões misturaram-se e foram dadas ordens para nova formação. Os tambores pararam. Apitos. A cantiga de Situba elevou-se num coro triste. Estreitou-se um círculo de gente em torno do “Garantido” que cumprimentava o “Caprichoso”. A sombrinha de d. Amélia destacava-se à luz de um facho. Alfredo, espremido, viu os bois que se cumprimentavam e sorriu do contraste.
A não ser a cabeça feita com caveira autêntica, o “Garantido” era, com efeito, boi de brinquedo, bezerro de bumbá, mais diminuído ainda quando parava de dançar, deitando-se com o tripa dentro, bem quieto, os chifres enlaçados de flores e fitas. Do outro lado, o “Caprichoso”, que se tornava extraordinário diante do visitante, com malhas pretas de veludo, a cabeça bem posta, [118] chifres lustrosos, olhos de vidro escuro, olhando vivos. Um boi tão bem feito como os bumbás de Belém, armado com a arte do mestre Joaquim Cunha, experiente de muitos anos de São João e do conhecimento do gado. Diante dele, o “Garantido” era um arremedo de causar lástima e ao mesmo tempo subvertia a tradição do bumbá. E isto produziu primeiro hilaridade quase geral, depois certa curiosidade um tanto prevenida, por fim aceitação e mesmo respeito porque o cordão tinha numerosos figurantes, compasso nos tambores, caprichara nas vestimentas. Situba, blusa e calção de cetim, o chapéu brilhante partido ao lado, revelava-se legítimo amo de boi-bumbá. Tirava versos numa improvisão surpreendente e sabia imprimir a todos os seus parceiros uma vibração contagiosa.
Alfredo olhava o “Caprichoso” um pouco orgulhoso dele e da sua velha intimidade com o boi, da casa de Lucíola. Didico era o zelador do boi. Viu-o muitas vezes, longe das festas de São João, solitário, se cobrindo de pó, a um canto do quarto de Lucíola. Devassara-lhe o mistério da armação, aquele forro de cetim e veludo que tanto o preocupava quando o conheceu pela primeira vez no centro do cordão, à luz da fogueira grande. Estava ali o “Caprichoso” diante do “Garantido”, com a tranqüila certeza de que era um autêntico boi-bumbá. E Alfredo conhecia a história de sua cabeça. Era de um garrote, da fazenda “Por Enquanto”, que pisara um sucuriju grande debaixo de umas cuieiras, avançara sobre uma mulher de saia encarnada e a ferira no braço e como se voltasse também contra o dono, no risco de furar-lhe a barriga, foi laçado e trancado. O dono resolveu vingar-se dele de uma maneira singular. Soltou-o no meio das vacas e novilhas no pastoreador. Ao vê-lo excitado mandou prendê-lo, na mesma hora castrou-o, Alfredo, por coincidência, havia visitado a fazenda naquela tarde em companhia de Didico. Ouviu o baque surdo do malho nos sacos do boi que urrou de tal forma, mais parecia castração de um homem. Meses depois, o boi abatido, a cabeça comprada para o “Caprichoso” que andava precisando de uma nova. Lucíola tratou dela, esteve semanas na ponta das estacas aos fundos da casa, vigiado pelos urubus. E mal a caveira alvejou ao [119] sol, com os chifres luzidios, foi levada para o mestre Joaquim Cunha. Vendo-o agora na sombra, Alfredo esperava que aquela cabeça forrada e malhada não soltasse de novo o urro da castração. Podia arrastar o corpo de panos e madeira, chifrando todo o mundo, procurando o pastoreador.
Em ordem, vamos. Está demorando. Pra cima. Pra cima.
A orquestra do “Caprichoso” tocou. Os versos de saudação subiram numa áspera melancolia. Mas os tambores responderam e a massa refluiu para a rua, atrás dos cordões que dançavam. Os bois, agora íntimos, seguiam as pulos, trocando chifradas cordiais, volteando os rabos em torno do povo. Descobria-se um ou outro pé, de um homem ou de um menino, por entre as largas e soltas bainhas da cobertura dos bois. Situba levantou a voz e novos versos se espalharam pela escuridão em que os faróis ardiam. A procissão encheu a rua, ganhando o aterro. D. Amélia fechou a sombrinha e conduziu Alfredo pelo braço.
Alfredo comparava o préstito sombrio com as procissões na vila no tempo da influenza. A umidade subia-lhe pelo corpo, o coração queimava de desgosto. Aqueles brincantes de São Marçal cantavam como se chorassem defuntos. Era talvez a força da agonia de Dionízio pesando sobre eles.
O menino roçava pelos brincantes molhados, vestindo-se do luto que vinha do velório de Dionízio e se espalhava pela noite. Se um homem agonizava, por que não suspendiam a festa? E como recuado no tempo e na distância, o chalé desaparecia, com ele a casa de Lucíola, a janela em que a moça ficara e onde a sua larga testa oleosa era o espelho do sol. Foi-se o casarão do coronel Bernardo, o caminho ou rua da Municipalidade. No chalé, que estaria fazendo Mariinha? E doía-lhe a inocência do pai, a inocência do que ia acontecer.
Sob o atordoamento dos tambores, maracás, pragas e risos, homens cuspindo ruidosamente, mãos tateando cotovelos, peitos e bundas na sombra, Alfredo tentava ainda, confusamente, decifrar o capricho da mãe que caminhava, silenciosa. Sentia-se mais [120] criança, dominado por uma perplexidade e um temor próprios de Mariinha e não dele. E passava a ver tudo aquilo através das impressões que o capricho da mãe acumulara no seu espírito. Que poderia acontecer? Iria ela entrar em luta com alguém em plena rua, entre tambores, maracás e bêbados? Logo seria o pai posto fora da Intendência ou sua mãe expulsa do chalé. Como procederia no caso da expulsão? Sairia com ela ou ficaria? E Mariinha? Com esse súbito problema de consciência, amesquinhado e troçado pelos moleques, a mãe na rua, o chalé perdido, Mariinha gritando pelo pai, a mãe indiferente. Onde teriam de morar? Num sítio desconhecido, cercado de lama onde enterraria a sua viagem para sempre? Não saberia decidir-se. Procurava uma solução conciliatória que não vinha.
De pronto, lhe veio a indagação: seria por causa da professora? A língua da professora? E entendeu que não deveria ter escrito, atrás do quadro, a advertência “não se meta com meu pai”, mas “não se meta com minha mãe”. Quis reconstituir a língua da professora em seus detalhes. Comprida, apenas, com o volteio baboso dos esses e erres. Então, pensou em Lucíola, que significava quase um pedido de socorro, um apelo. Ou deixaria a mãe na rua e avisaria o chalé... Por onde andaria o cordão da “Águia” onde tio Sebastião desempenhava o papel de guarda-bosque? Estava ou não estava traindo sua mãe? Esta segurou-lhe o braço, o que lhe deu alento. Afinal, sua mãe tinha coragem, não se deixava humilhar por ninguém e afiava os dentes para cortar a língua da professora. Imaginou-a avançando, mais enegrecida pela cólera, com os dentes chispando de ciúme e de vingança. Ciúme? Vingança de quê? Aqui Alfredo hesitou. Ela faria aquilo talvez para protegê-lo e garantir a sua viagem. A professora estaria na iminência de se apossar do chalé e botá-los de lá. Mas outras suposições entraram no coração do menino. Teria sido aleive da casa de seu Cristóvão? Naturalmente disseram que foi ela quem matou Eutanázio.
Se não fosse coisa grave e ofensiva, sua mãe não estaria ali disposta a arrancar com uma dentada a língua que a ofendeu. O mal das pessoas vinha de suas línguas que tudo inventavam e tudo [121] mentiam? Como seria possível cravar os dentes na língua inimiga? Primeiro, teria de agarrá-la e o inimigo certamente morderia as mãos... Um processo difícil, que provocaria uma luta curiosa e para isso teria sua mãe força bastante? E que poderia fazer ele? Por fim, julgou-se bobo-bobo, pois sua mãe teria recursos para se desforrar do inimigo. Arrancar a língua? Mas até queria ver.
Caminhava entre desconhecidos, a noite tornava todas as pessoas desconhecidas. Os pés se fundiam na lama, chapinhando. E Alfredo procurou prestar atenção a uma nova cantiga, a uma pancada mais viva, do tambor, o ar se enchia do hálito dos bêbados, de odores misteriosos e ácidos, nomes obscenos e da soturna apalpação com que os machos cercavam e apertavam as raparigas. Estas já trariam nas mãos os sapatos molhados. Certos palavrões soavam como se fossem a única coisa festiva daquela noite. Saíam pesados de saliva e cachaça, entre cigarros acesos. Cresciam nas bocas como abóboras podres que se partiam nas caras e na lama com a explosão da injúria fácil e gratuita.
Entre esses palavrões, tão sagrado quanto impuro, saltava o nome de mãe, em torno do qual se improvisavam variações pornográficas e se inventavam histórias que Alfredo nunca ouvira. Aos poucos, essa palavra era uma abjeção, acusando uma origem obscena a todos que mutuamente se injuriavam. Alguém gritou ruma voz encharcada de cachaça:
— Maguá!
E a mãe! A resposta espremia o coração do menino. A nossa, Maguá.
— A de nós todos, gritou adiante o Farinha D’água.
Paridos da mesma mãe, fêmea de todos, injuriavam-se com o estigma da própria origem e ainda aí sentia-se, na evocação de um mito, o eco do pecado original em sua maldição bíblica.
Em Alfredo isso tudo se passava, ora com opressiva lucidez, pra numa obscuridade em que tentava compreender por que queriam aqueles homens transformar o nome de mãe em palavrão e vergonha de todos. E na verdade toda aquela injúria à mãe era diretamente lançada sobre a dele que ali se misturava, em carne osso, com eles e no meio das raparigas. As outras mães naquela [122] hora, resguardavam-se em suas casas. E quando se repetiram entre gracejos e raiva, o “papei tua mãe no algodoal”, “tua mãe foi meu pasto”, “abri foi tua mãe na beirada”, “dormi em riba de tua mãe”, sentia que era contra ela, que encarnava todas as mães, culpadas de os terem concebido, injuriadas e condenadas desde Eva.
D. Amélia caminhava, sem nada escutar, inatingível, o seu aroma a protegia das impurezas da noite.
Desceram para a primeira rua da vila de cima e avançaram pelo cerrado capinzal que ensopava as roupas. Mucuins passaram a atacar as pernas, subir pelos umbigos e sexos. Rãs e calangos saltavam espirrando lama e assustando as mulheres.
— Cuidado com eles, cuidado com eles, mulherada, que eles espiam...
A indagação de uma mulher: “Espiando o que? O que?”, era para o menino mais safada que a pilhéria dos homens. Em meio da música e dos tambores, ouvia-se um coro de sapos na vala próxima. Alguém atirou um pau, gritando:
— Calem a boca aí, seus padres.
Logo à frente acendeu-se subitamente uma fogueira, deu um tom vermelho de surpresa aos rostos que avançavam no escuro.
— Jogaram querosene nas achas.
— Não se queima lenha nesta noite. Fogueira de São Marçal é feita de paneiro, disse alguém à dianteira de Alfredo e duas pistolas subiram no ar e caíram em lágrimas luminosas.
Algumas raparigas perto de Alfredo entraram a lamentar o gasto de querosene naquela fogueira. Lá nas suas barracas estavam secos os pavios das lamparinas. Tinham que conservar o fogo das trempes, as brasas davam uma luzinha mal e mal para enxergar o caminho da rede.
Outra pistola subiu.
Alfredo desejou soltar alguns foguetinhos e compreendia que àqueles raros fogos comprados em Belém faltava a qualidade e beleza dos feitos por seu pai. A fogueira, vencendo a umidade e o chuvisco, alteou-se. Alguém atirou um sapo nas chamas. Uma [123] rapariga acendeu cigarro num tição. Os cordões continuaram a caminhar lentamente, dando tempo a que muitas pessoas, aos pares, passassem fogueira de “comadres”, “manos”, “primos”, “gosto meu”, “meu querubim” etc. E a voz do “Farinha D’água” subiu dó meio, advertindo:
— Passem, passem fogueira de São Marçal. Isto é para ficarem assanhados. Não basta já o que são?
E segurando a mão de uma mulher que arrastou ao pé da fogueira, o velho suplente fez a cerimônia:
— S. João disse, S. Pedro confirmou, que a gente havera de ficar assanhada que São Marçal mandou.
A mulher tentava escapar, a cabeça derreada numa suposta vergonha. O velho repetia as palavras e depois abraçou-a, dizendo:
— Já sabe, hein? De hoje em diante a gente só se chama de assanhado um pro outro. Boa noite, minha assanhada.
Os bois dirigiram-se pela rua da Boa Vista, parando diante de um chalé, antiga mercearia que tinha o nome ainda no frontal: Dinheiro Haja. Luzes de carbureto da janela iluminavam o trecho da rua. Situba apitou, ordenando o alinhamento do cordão paia a entrada do “Garantido” no chalé. Mas desceram ordens rápidas para que dançassem ali mesmo, num chão de areia e restos de calçada.
Alfredo deu com a moça numa das janelas — o chalé era alto. Aos poucos a foi reconhecendo pelo rosto moreno e oval, a passagem dela pela escola da professora Alzira — pulava corda no recreio, escondera-se, uma vez, atrás das colegas para amarrar as calças — os curtos cabelos cor de castanhas, a boca levemente entreaberta. Pontas de fitas caiam do seu colo. Atrás, à sua nuca, um leque fechado de alguém, rosto não se via. À luz dos carburetos, a face banhada por uma misteriosa expectativa, ela curvou o busto entre as fitas para fora da janela, as mãos cruzadas sobre a boca e assim ficou, solitária, cheia ao mesmo tempo de um deleite de menina, a olhar com uma grave distancia e uma doce curiosidade aquela gente que dançava.
— Meu Deus, disse d. Amélia, como Celina cresceu e está [124] bonita. E se lembrou de Raul, o pintor, que namorava a moça. Namoravam escondidos.
— Ainda fala um pouco gaga, mamãe?
D. Amélia, sem responder. Celina sorria e se virou para trás, disse alguma coisa à pessoa do leque. Seu perfil, então, se tornou lindíssimo na claridade. Alfredo seguia-lhe todos os gestos. Celina não dava intimidades aos que estavam na rua; de longe, e gaga, podia exibir imponentemente o seu orgulho. O bumbá dançava para ela, para ela Situba cantava, tudo aqui embaixo louvava Celina, tal era o seu poder na janela com aquele rosto queimado, a doração das fitas envolvendo-lhe o pescoço e o peito, o desassossego dos cabelos e o olhar imperioso.
— Diga, mamãe, ainda fala um pouco gaga?
— Não sei, meu filho... Talvez fale.
Entretanto, estava ali, perfeita. Não se podia imaginar melhor instante de juventude. Acreditava agora que não era em torno dos santos que flutuava o mistério desses clarões que circundam as imagens, mas em torno de jovens como Celina. Tão crescida estava, tão de repente moça! Seu rosto na janela, ao clarão da fogueira, tão humildes as raparigas que a contemplavam também, embrulhadas na sombra, os pés na lama! Como que viam em Celina a adolescência delas, restituída ou que deixavam de ter e a luz que agora e para sempre lhes faltava. E a lembrança de d. Amélia: e Raul? Tocava violino no cordão da “Águia”.
Situba entoou a saudação ao “boi de fama”, “senhor das malhadas”, “encanto das morenas”, iniciando a comédia. Ajeitou o chapéu, com pluma e fita, as luvas, sacudiu o manto de seda, arminho e vidrilhos, espichou o calção de cetim, enxugando o roso com um lenço cor-de-rosa. Era uni misto de fidalgo e escudeiro, sacudindo o maracá, o seu passinho no meio do círculo lembrava as danças do tempo dos reis. A luz dos carburetos, Alfredo viu quanta pluma, flores de papel, penas de guará nos chapéus, cocares de sarapantar, tangas cor de sangue, beiços tintos de urucu e papel encarnado, voltas de miçangas, espelhinhos nos peitos. Estaria um deles refletindo o rosto de Celina, feito medalha do rosto dela? — espelhos na cintura e nas coxas, um redondo, à frente [125] de uma tanga sobre o sexo de um índio. Neste espelho, poderia estar refletido o rosto de Celina, o que para ela seria já uma perdição.
Os carburetos revelavam ainda anéis grossos de tucumã, papéis dourados, meias até o joelho, algum veludo, algum arminho, entre o vago reluzir dos vidrilhos. O “Garantido” fazia os seus giros na roda, numa dança bovina, miúda e rasteira que fazia rir a moça da janela. Gente engrossou em volta, úmida, excitada, respingando lama; sapatos na mão, o bafo quente de cachaça e dentes podres, candeeiros apagados, tabuleiros de doce, panelas de mingau, chocolateiras, um ou outro jasmim numa cabeça de mulher.
A comédia, ao velho sabor dos bumbás, quase sem variante, se desenvolvia, monótona. Alfredo mal acompanhava o desenrolar das cenas e dos papéis, preocupado que estava com a mãe, com os movimentos de Celina na janela que agora parecia mais alta. Os mucuins lhe assaltavam as pernas, espalhando coceira pelo corpo.
Quando o personagem cômico, o Pai Francisco, feriu o boi, fugindo, d. Amélia bateu palmas, achando que o Cazumbá tinha feito bem o papel de negro velho.
E a senhora conhece Cazumbá
— Um primo de longe, meu filho. Filho de uma prima de mamãe.
Alfredo achou esquisito. Afinal pessoa de sua família pertencia também ao “Garantido”. Cazumbá era seu parente. Negro. Negro sem nenhuma atenuante. Sua família perdia-se em fundas e insondáveis origens negras. Dali vinha sua mãe e havia nisso talvez o segredo de seu domínio, de seus repentes, de suas extravagâncias.
A comédia continuava. O amo mandou chamar o tuxaua para ajudar a prender o Pai Francisco, que se escondera no mato, atrás de um rifle. Afinal, refletiu Alfredo, Pai Francisco era tido como mau, por quê? Por se atrever a erguer a voz para o coronel? Mas no bumbá do Situba, o Pai Francisco quis sangrar o boi para matar, com um pedaço de carne, o desejo de nhá Catarina, que [126] estava prenha.
Surgiam na roda os índios, primeiro submetidos a batismo. Apareceu o padre, desta vez descalço, a batina era uma saia tinta na casca de muruci. Situba, contrariado, fez-lhe sinal, perguntando pelos sapatos. O padre com um movimento de pés, deu a entender que lhe nasceram calos. E preparou-se para batizar os pagãos. Desfiou, diante dos índios, ajoelhados em círculo, o seu rosário de contas brancas. Cantou numa voz rachada:
“Batiza caboco”.
Os índios, em coro, contritos, respondiam:
“Não namoro mais... Não namoro mais.
Tornados cristãos, pois não namorariam mais, depois de fazerem de conta que falavam e cantavam língua de índio, fizeram uma evolução e desapareceram à procura do Pai Francisco. Alfredo achou ligeiramente estranho que os guerreiros índios se tornassem cristãos apenas para caçar um preto, para se tornarem cruéis a serviço do dono do boi. Não demorou muito e chegava o negro velho tocado pelas flechas batizadas. Já não era o Pai Francisco do começo, ligeiro de língua, no passo e na provocação, mas submisso, aterrorizado, e o amo, “senhor meu amo”, o interpelou. Situba perdia o ar cerimonioso de salão para ser agora o coronel no meio do curral, vingador, o fazendeiro. Por causa de seu boi, matava e esfolava. Seguiu-se o castigo do Pai Francisco. O doutor foi chamado, curou o boi que se levantou e volveu a alegria a reinar nos campos do “Garantido”.
A orquestra tocou a introdução para o cântico da moça, a filha do coronel, uma cabocla baixotinha, gorducha, vestido comprido de cetim, cabelo ralo, pulseiras, um botão de rosa esquecido no peito, montada num “luís quinze” branco, torto e enlameado. Era a melhor voz do baixo Arari e estava rouca. A seu lado, uma cabocla, de ar inquieto, abanando a cabeça, pressentia o insucesso da personagem. Mãe da moça, talvez, gesticulava falando com as outras mulheres, sem dúvida sobre a rouquidão, a extravagância da pequena ou culpando o tempo. A cantora viera mostrar como se cantava no baixo Arari e ali estava, de não se ouvir o que ela dizia. Na segunda parte do cântico, a velha cabocla não [127] se conteve e começou a cantar, ajudando a cantora. Neste ponto, observava Alfredo, o “Garantido” vencia o “Caprichoso”. A moça era mesmo de verdade ao passo que a filha do coronel, no “Caprichoso”, nunca deixava de ser o Pagão, tamanho biguane, de barba e fala grossa, metido no vestido da irmã, nuns enfeites comprados na cidade, uns seiões que nada tinham de donzela, os cabelos de cauda de cavalo, de vez em quando metendo a mão por dentro do vestido para tirar cigarros ou para um gesto obscenamente afirmativo quando alguém vinha gracejar com ele por causa do seu papel.
Os vaqueiros saudavam o restabelecimento do boi e Situba então lançou, de improviso, uma cantiga faceira que falava da morena na janela, enfeitada de fitas, “sonhando com os anjos”. Alfredo olhou para o alto. Alguém havia tocado Celina pelas costas, fazia cócegas, a moça se contorcia de riso. Debruçou-se na janela, o rosto suspenso sobre a roda do bumbá e subitamente endireitou-se, examinou o peito e arrancou uma fita, acenando para Situba. Este sempre cantando, compenetrado, com o fidalgo passinho de dança, fez um sinal também ao que ela obedeceu, atirando-lhe a fita nas mãos enluvadas. Continuando a cantar, Situba prendeu a fita no pescoço do boi que, dançando, fez reverencia para a janela. Atrás de Celina, várias moças e senhoras riam, em pé nas cadeiras, no meio da sala, e Celina mordeu o lábio para não rir desta vez, embora o riso pelo rosto inteiro borbulhasse.
Os vaqueiros, com os chapéus e as lanças em punho, saudavam o dono da casa. A indiada pés de borracha suava na dança escura e repleta de penas como se grandes aves marajoaras viessem também dançar.
D. Amélia assistiu ao enredo com singular atenção. Na verdade era pior que a comédia do “Caprichoso” em que os versos de Eutanázio continuavam a ser cantados. Mas havia novidade em Situba, seus improvisos, garbo e a vibração no seu papel. O Pai Francisco tinha umas graças que caprichavam em intenções safadas. Mas, reparou Alfredo, não faziam Celina rir. Amanhã, por certo, no meio das companheiras, haveria de repetir as pilhérias, entre gargalhadas.
[128] Situba apitou dando o sinal para a música da despedida, os índios pularam na frente, e o canto do adeus saudoso se espalhou. Desceu uma salva de palmas das janelas. As mãos de Celina nessa ocasião ocupavam-se em abotoar a blusa atrás para, em seguida, desembaraçar a infinidade de fitas no colo.
Feita a meia volta, os tambores aquecidos na fogueira, soaram com veemência, e o “Garantido” caminhou.
Lá adiante, o “Caprichoso” fazia evoluções. Quando chegou a uma casa da esquina, baixa, com um correr de janelas cheias de gente, d. Amélia resmungou qualquer coisa e apressou o passo.
Situba preparava na frente da casa o início da comédia, apitando. Espocaram novas pistolas, correram pelos pés “espanta-coiós”, restos de fogueira aqui e ali foram acesos.
Risos frouxos de raparigas, acuadas nos postes e nas paredes entre homens, tambores e sons de flauta, não deixaram ouvir as primeiras palavras que d. Amélia dirigia a uma das janelas. Alfredo puxou-lhe pelo cós da saia, pedindo que se calasse:
— Mamãe, que é isso?
Tinha chegado o instante que Alfredo temia mais do que nunca. As pernas tremiam.
— Mamãe, que é isso?
Mas sua mãe se aproximou da janela, estendeu o braço que alcançava o peitoril e sua voz se fez distinta:
— Agora, d. Finoca, chegou a nossa vez. A senhora já nem se lembra. Mas eu me lembro porque foi só agora, depois de tantos anos, que eu soube... Justamente hoje...
— Como?
— Só hoje, hoje, dia de São Marçal, foi que eu soube. Levei anos procurando saber. Saber quem foi que disse aquilo, que ficou atravessado aqui. Anos e anos. Hoje eu sei. O mistério acabou. Foi a senhora. Disto estou certa, como certa estou de que a terra há de nos comer. Não se lembra do que disse? Pois eu lhe repito para despertar a sua memória. A senhora disse que este, [129] o Alfredo, não era filho do seu Alberto, mas do Rodolfo. Tanto que disse que mandou buscar meu filho um dia para ver se tinha parecença, se era claro ou... E eu, besta, mandei meu filho para prestar a tamanho papel infame da senhora, d. Finoca. Agora soube. E justamente me preparei para vir dizer o que meu coração...
Algumas pessoas a reconheceram na sombra, tentaram intervir, mas d. Amélia foi se tomando de cólera à proporção que as atônitas mulheres das janelas, as Gouveias, procuravam responder.
— Se a senhora botar o pé na rua ou me deixar entrar a nessa casa, roubada dos órfãos de d. Marcionila, o menos que faço é arrancar essa sua língua da boca pela raiz. Arranco a dente ou a La. Venha agora examinar meu filho, pra saber... Venha! Traga seu melhor carbureto para examinar a pele do menino e saber de uma vez para sempre, quem é o verdadeiro pai dele!
Alfredo gritou para que sua mãe calasse, grupos rodearam-na e apareceu Didico, irmão de Rodolfo, de pistão debaixo do braço, pedindo nervosamente que ela não fizesse aquilo, visse o nome, a posição do major Alberto — depois uma conversa tão antiga, que se passara há tanto tempo. D. Amélia calou-se, arquejante, com um esgar, estranhamente sorrindo e os seus cheiros aumentavam com a sua raiva. As mulheres das janelas, que se recolheram, voltaram dizendo qualquer coisa, enquanto Didico segurava, de leve, tremulamente, o braço de d. Amélia. Presa à mão do filho, d. Amélia se inclinara para a janela de onde ouviu:
— A que ponto já chegamos que uma negra...
Rápida, afastando Didico e o filho, d. Amélia avançou para a janela e cuspiu grosso e violentamente no rosto da senhora. D. deu um grito. Didico saltou, o pistão caiu-lhe das mãos, as mulheres gritavam dentro da casa, janelas fecharam-se com estrondo. O “Garantido” recebeu ordem de retirar-se entre apitos e tambores. Duas raparigas na confusão puderam trazer d. Amélia pelo braço até ao pé da vala onde Alfredo, as mãos no rosto, soluçava.
[130] D. Amélia falou num tom carinhoso:
— Deixe, meu filho. A língua dela vai criar bicho.
Alisava as costas do menino que se assoou na manga da blusa:
— Queria que eu ficasse então calada? Engolindo o aleive? Você teria nojo de mim, filhinho. E quem não vê que seus dedos do pé iguais-iguais aos de seu Alberto... Também não tenho porque estar provando. O que me importava dizer, eu disse. Dizer na cara dela, saber que eu sei que foi ela que disse. Custou saber. Custou anos, anos e anos. Mas nunca é tarde para se saber uma verdade. Cuspi foi toda a minha raiva naquela cara... Eu... agora até dançava... E vocês ai... suas... que foi? Grandes coisas!
As duas raparigas sorriram, vexadas. Alfredo via-as irreconhecíveis, mudas e errantes na escuridão. Com elas, sua mãe. Longe cantavam os bumbás.
Fez-se um silêncio no trecho da rua, para que os sapos na vala voltassem a conferenciar alto. Passaram correndo, com os despojos de suas vestimentas no braço, alguns personagens do cordão “Águia” que se recolhera cedo. Alguém entre as estacas do quintal das Gouveias mijava como um cavalo.
— Venham cá, disse d. Amélia às raparigas.
Pararam diante de uma fogueira de restos de paneiros, cinzas ardiam. Alfredo esfregava os olhos. Sentiu um asco infinito ao pensar que alguém poderia ser seu pai e não major Alberto. A simples suposição disso dera-lhe uma crespa sensação de inferioridade. Chegava a ressentir-se contra a mãe naquela hora, pela possibilidade de ter um filho com o tipógrafo ou de haver dado a que falar, porque era uma infâmia, estava convicto disso. E assim brotou do seu coração flagelado uma tímida satisfação pelo gesto da mãe, embora isso talvez o condenasse a nunca mais ir ao colégio. Via a mãe, agora, entretida a pular fogueira com as raparigas e estas falavam, muito admiradas: Como a senhora está cheirando, D. Amélia...
Elas sentiam-se felizes de se verem, por alguns instantes, livres do pastoreio dos homens. Sentiam-se moças pulando fogueira com aquela senhora negra que lhes parecia mais honrada que [131] todas as brancas, que havia cuspido no rosto fino, tão bem tratado, de d. Finoca Gouveia, branca da cidade, parenta de fazendeiros e advogados, com um sobrinho na Escola Naval.
— Vamos, Dominguinha, pula... Se tu fosse moça, sua safada, não prestava pular fogueira de paneiro de S. Marçal. Fica assanhada. Mas tu já pagaste pelo teu assanhamento.
De que a gente passa, d. Amélia?
De madrinha. De agora em diante, vai me tomar a bênção, sua infeliz.
Alfredo viu na Dominguinha ao clarão das brasas uma palidez azinhavrada, beiços de defunta, rasgão na costa do vestido feito por um puxão de homem. Falava entre as gengivas podres. A outra, a Martinha, com as nádegas parecendo nuas na saia justa, era escura, gorda, uns grandes olhos de vaca.
— Vamos atrás do boi, vamos. Meu filho, aqui do meu lado.
Seguiram juntos como uma família.
Ao chegar ao bosque do Professor caiu uma pancada de chuva. Refugiaram-se num pardieiro, aos fundos, um gato miava sem parar.
Logo que passou a chuva, d. Amélia e as raparigas chegaram a casa onde dançava o “Garantido” — um salão de terra batida, teto de palha, lamparinas de pavios enormes, nos esteios.
E aí então, aproveitando o intervalo da comédia em que o dono da casa na cozinha, dava café e cachaça aos brincantes, d. Amélia subitamente apanhou o maracá de um índio, arrancou dos ombros de um cabocla um pano azul, enfaixou a cintura e surgiu no meio do salão, cantando e dançando, em passo lento.
Primeiro houve uma espécie de assombro entre a maioria das pessoas que a reconheceram. A seguir, num gesto de solidariedade, a orquestra tocou. Uma moça trepada no banco riu alto e vários espectadores fizeram ao mesmo tempo psius de atenção. Alfredo espremeu-se a um canto, atrás dos músicos, tremendo de cólera e vergonha. D. Amélia dançava e cantava e com um gesto fez a orquestra parar. Pediu ao violinista que a acompanhasse e se pôs a cantar baixo entre o silêncio geral.
[132]
“Tu já vais
Tu já me deixas
Deus te leve a salvamento
Que por cá torne a voltar”
Tu já me deixas
Deus te leve a salvamento
Que por cá torne a voltar”
Situba, ao voltar da cozinha, parou à entrada do corredor, contemplando-a, sorrindo, compreensivamente. E aos poucos, Alfredo foi erguendo a cabeça, já atento, ouvindo aquela cantiga tão de sua mãe, seu travesseiro nos embalos em noites bem distantes. Não podia agora deixar de fitar a sua mãe, no meio do salso, serena, cantando como se fosse para ele, para que adormecesse na rede a um canto da saleta no chalé.
“Tu já vais
Tu já me deixas...
O mar se vire em areia
que não possas navegar
Tu já me deixas...
O mar se vire em areia
que não possas navegar
Alfredo sentia brotar de sua memória os outros versos que ela agora soltava no salão:
“Se o mar se virar em areia
que não possa navegar
Tornarei para teus braços
para sempre te adorar”
que não possa navegar
Tornarei para teus braços
para sempre te adorar”
Uma salva de palmas encheu o saldo quando ela acabou. D. Amélia com um novo aceno para o violão, consertando a garganta, principiou:
[133]
“... ’stive num delicioso baile
na fazenda Arari
Donde tinha uma menina
muito dançadeira de valsa
de lundu e contradança”
“... ’stive num delicioso baile
na fazenda Arari
Donde tinha uma menina
muito dançadeira de valsa
de lundu e contradança”
Essa, Alfredo desconhecia. Já o sentimento de vexame e depressão passava. Ante a iminência do crime que sua mãe ia cometendo antes, tudo agora em diante poderia ser grave, mas sem conseqüências funestas.
“Do Curralinho pra cima
Já se começa a encontrar
Barrancos de canarana
Mururé a enfadar”
Já se começa a encontrar
Barrancos de canarana
Mururé a enfadar”
Logo emendou para uma história meio cantada e falada, aprendida nas Ilhas quando, ainda donzela, em companhia do irmão cortava seringa e engravidou misteriosamente. Alfredo ouvira-a falar dessa história cheia de águas e florestas desconhecidas, que se confundiam com as velhas impressões da primeira infância. Sua mãe, numa voz evocativa, soltava a história no silêncio da sala e envolvia todos numa atmosfera de sortilégio. Era a queixa de um rio à cobra, sua mie, que o abandonava. O rio se lamentava soturnamente no meio do mato. Cobra grande não me abandone. A terra crescia na água. O rio secava. Os estirões, largos outrora, se estreitavam, se estreitavam e as margens se fundiram, balançando na rede dos cipoais. Cobra grande não me abandone. A cobra dormia no fundo do rio e de repente acordou, era meia noite e deu um urro: vou-me embora pras águas grandes. Então os peixes, todos os bichos, os caruanas, as almas dos afogados, os restos de trapiches, as montarias também seguiam pras águas [134] grandes. Os restos de cemitério que tombavam nas beiradas também partiam pras águas grandes. Adeus, ó limo da cobra grande, adeus 6 peixes, adeus, marés, tudo vai embora pras águas grandes. Até a lama há de partir, os aningais, as velhas guaribas, tudo seguindo pras águas grandes. O rio se queixava, se queixava, secando sempre: não me abandones, mea mãe cobra, me amamenta nos teus peitos, vomita em meu peito o teu vômito, enche os meus poços, alaga as margens, quero viver, quero as marés, mãe cobra grande. Ninguém ouvia o agonizante rio.
Mal se escutavam suas palavras, que Alfredo traduzia mentalmente na lembrança da estranha história e da velha cantiga. Tudo indo se embora pras águas grandes. Lá vão. Lá vão. Ouvia-se a voz subir, repetindo:
Mal se escutavam suas palavras, que Alfredo traduzia mentalmente na lembrança da estranha história e da velha cantiga. Tudo indo se embora pras águas grandes. Lá vão. Lá vão. Ouvia-se a voz subir, repetindo:
“Pras águas grandes.
Pras águas grandes”
Pras águas grandes”
A cobra foi se arrastando, secando o rio. Contavam que duas piaçocas iam pousadas na sua cabeça. E também uruás, caranguejos, siris, ninhos de tucunarés, muçuns, um filhotão de garça. Tudo indo se embora pras águas grandes. Lá vão. Lá vão. Ouvia-se a voz das garças mais brancas do que nunca, e os guarás não trariam mais nas asas a vermelha madrugada para mirar-se na enchente. Lá vão, lá vão, pras águas grandes, pras águas grandes.
Os assistentes como que compreendiam a queixa, sentiam esse lamento fundo e viam a cobra grande caminhando como cedro do Amazonas, de bubuia, embandeirada de aves, a sua tripulação de bichos, com toda a vida do rio no seu bojo.
E apenas o caboclo, no taperi, à beira do rio morto, se abraçava com o leito do rio, ficava com ele, chamava-o, meu mano. Chorava com o rio, ah, caboclo sentido. Quem lhe dera que as suas lágrimas o enchessem de novo, lhe dessem marés, fossem águas vivas, águas pros peixes-bois e matupiris. Ah, mano. Só ficou o caboclo, o cachorro, a mulher, a seringueira, o portinho no seco e lá da lonjura chamando se ouvia ainda, as águas grandes, chamando.
Alfredo viu na mãe os olhos cheios de lágrimas. Sua existência, passada nas Ilhas, aflorava sombriamente na queixa daquele rio, abandonando-o, ia o primeiro, afogado, agora pele de mururé, polpa de aninga, semente de ilha no bico de jaçanã. No silêncio em que ela terminou, uma mulher, comovida, lhe deu um lenço e carinhosamente a conduziu para um banco. Situba disse alto:
— E isto mesmo, o rio seca quando a mãe, a cobra grande, vai embora.
A um canto, só, Alfredo é que entendera todas as palavras. Já a roda estava formada. O tripa do boi voltara da cozinha. D. Amélia, então, como se despertasse, retirou o pano da cintura, devolveu o maracá ao índio e disse, encabulada:
— Mas que triste papel eu fiz, meu Deus! Ah, possível. Fui a palhaça da noite.
O não! Não! da assistência apressou a sua saída, Levando o filho. Alfredo, singularmente, ria, como se, às palavras da mãe, compreendesse que ela estava mesmo no seu juízo.
Na rua, acompanhados ainda pelas raparigas, sob o chuvisco, viram correrias, gritos, adiante. Junto a mangueira, desafiando um grupo de homens, o peito nu de porco esfolado, o boné e o cachimbo, as botas de caçador, e bêbado, o dr. Campos, juiz substituto da Comarca. Os homens permaneciam quietos. O juiz mastigava palavrões, erguendo o braço, de mangas arregaçadas ou mordia furiosamente o cachimbo. Foi quando um caboclo, de gatinhas pela lama, avançou sobre ele e rápido passou-lhe uma rasteira. O juiz desabou na vala para onde o grupo se precipitou. D. Amélia deu um grito, correu, arrastando o filho e parou, arfando, na esquina. Logo depois viram surgir da vala o juiz cambaleando, aos brados, amparado pelos caboclos.
Alguém gritou:
— Deceparam a orelha do homem.
— Com quê? Navalha, faca ou dentada? — Foi uma visagem de Marinatambalo que tirou a orelha do juiz.
Entre risos, pragas e o pânico de mulheres que se espalhavam pela rua, o juiz começou a gritar com uma inflexão de choro na [136] voz. Caboclos corriam debandando pelo capinzal.
D. Amélia, sem dar mostra de espanto, apertou a mão do lho e disse:
— Meu filho, não adianta a gente ir agora pra casa. E tarde. Vamos ver o Dionízio. Deve ter morrido, coitado. A gente só sai de lá de manhã. E uma caridade que se faz pra ele. Você dorme no meu colo.
O menino recordou a tarde em que o juiz, babado, lhe apontara o revólver que não disparou. E um novo grito o fez estremecer:
— Enterrem a orelha senão ela vira fantasma, pessoal!
Orelha fantasma em Cachoeira, pensou Alfredo entre pilhérico e supersticioso. Então ninguém poderia falar mais nada porque em toda a parte estaria a orelha, sangrando, à escuta, sangrando, viva, dentro da sombra, escutando. Orelha enorme, branca, sangrando sempre, recolhendo rodas as confidencias da noite.
Quando outras pessoas passaram, de volta, correndo e saltando capinzais, d. Amélia perguntou na escuridão:
— Afinal, deceparam mesmo? E que fizeram do pedaço da orelha do homem?
— Boa noite, d. Amélia, por estas horas? Entregaram embrulhada, de presente, ao foguista da lancha. O foguista não sabendo o que era, pensando que fosse coisa feita ou qualquer brincadeira, atirou na fornalha.
Os homens silenciosamente se afastaram. D. Amélia com um curto riso resmungou: estorricada, estorricada. Alfredo lembrou. se de Mariinha no camisão em fogo, dos olhos de sua mãe nas chamas como carvões.
Já à porta do velório, d. Amélia lastimou que, em vez da orelha do juiz substituto, não fosse a língua de d. Finoca. Ah, isso sim. E concluiu:
— Mas foi bem feito pro juiz.
Entraram no corredor do pardieiro onde, à primeira vista, restava apenas o cadáver no meio, largado e imenso, à luz da vela que se derretia sobre uma garrafinha, a mesma garrafinha de cachaça, usada por Dionízio, quantos anos! Ainda agora servia a ele, na derradeira noite, à falta dum castiçal.
Os assistentes como que compreendiam a queixa, sentiam esse lamento fundo e viam a cobra grande caminhando como cedro do Amazonas, de bubuia, embandeirada de aves, a sua tripulação de bichos, com toda a vida do rio no seu bojo.
E apenas o caboclo, no taperi, à beira do rio morto, se abraçava com o leito do rio, ficava com ele, chamava-o, meu mano. Chorava com o rio, ah, caboclo sentido. Quem lhe dera que as suas lágrimas o enchessem de novo, lhe dessem marés, fossem águas vivas, águas pros peixes-bois e matupiris. Ah, mano. Só ficou o caboclo, o cachorro, a mulher, a seringueira, o portinho no seco e lá da lonjura chamando se ouvia ainda, as águas grandes, chamando.
Alfredo viu na mãe os olhos cheios de lágrimas. Sua existência, passada nas Ilhas, aflorava sombriamente na queixa daquele rio, abandonando-o, ia o primeiro, afogado, agora pele de mururé, polpa de aninga, semente de ilha no bico de jaçanã. No silêncio em que ela terminou, uma mulher, comovida, lhe deu um lenço e carinhosamente a conduziu para um banco. Situba disse alto:
— E isto mesmo, o rio seca quando a mãe, a cobra grande, vai embora.
A um canto, só, Alfredo é que entendera todas as palavras. Já a roda estava formada. O tripa do boi voltara da cozinha. D. Amélia, então, como se despertasse, retirou o pano da cintura, devolveu o maracá ao índio e disse, encabulada:
— Mas que triste papel eu fiz, meu Deus! Ah, possível. Fui a palhaça da noite.
O não! Não! da assistência apressou a sua saída, Levando o filho. Alfredo, singularmente, ria, como se, às palavras da mãe, compreendesse que ela estava mesmo no seu juízo.
Na rua, acompanhados ainda pelas raparigas, sob o chuvisco, viram correrias, gritos, adiante. Junto a mangueira, desafiando um grupo de homens, o peito nu de porco esfolado, o boné e o cachimbo, as botas de caçador, e bêbado, o dr. Campos, juiz substituto da Comarca. Os homens permaneciam quietos. O juiz mastigava palavrões, erguendo o braço, de mangas arregaçadas ou mordia furiosamente o cachimbo. Foi quando um caboclo, de gatinhas pela lama, avançou sobre ele e rápido passou-lhe uma rasteira. O juiz desabou na vala para onde o grupo se precipitou. D. Amélia deu um grito, correu, arrastando o filho e parou, arfando, na esquina. Logo depois viram surgir da vala o juiz cambaleando, aos brados, amparado pelos caboclos.
Alguém gritou:
— Deceparam a orelha do homem.
— Com quê? Navalha, faca ou dentada? — Foi uma visagem de Marinatambalo que tirou a orelha do juiz.
Entre risos, pragas e o pânico de mulheres que se espalhavam pela rua, o juiz começou a gritar com uma inflexão de choro na [136] voz. Caboclos corriam debandando pelo capinzal.
D. Amélia, sem dar mostra de espanto, apertou a mão do lho e disse:
— Meu filho, não adianta a gente ir agora pra casa. E tarde. Vamos ver o Dionízio. Deve ter morrido, coitado. A gente só sai de lá de manhã. E uma caridade que se faz pra ele. Você dorme no meu colo.
O menino recordou a tarde em que o juiz, babado, lhe apontara o revólver que não disparou. E um novo grito o fez estremecer:
— Enterrem a orelha senão ela vira fantasma, pessoal!
Orelha fantasma em Cachoeira, pensou Alfredo entre pilhérico e supersticioso. Então ninguém poderia falar mais nada porque em toda a parte estaria a orelha, sangrando, à escuta, sangrando, viva, dentro da sombra, escutando. Orelha enorme, branca, sangrando sempre, recolhendo rodas as confidencias da noite.
Quando outras pessoas passaram, de volta, correndo e saltando capinzais, d. Amélia perguntou na escuridão:
— Afinal, deceparam mesmo? E que fizeram do pedaço da orelha do homem?
— Boa noite, d. Amélia, por estas horas? Entregaram embrulhada, de presente, ao foguista da lancha. O foguista não sabendo o que era, pensando que fosse coisa feita ou qualquer brincadeira, atirou na fornalha.
Os homens silenciosamente se afastaram. D. Amélia com um curto riso resmungou: estorricada, estorricada. Alfredo lembrou. se de Mariinha no camisão em fogo, dos olhos de sua mãe nas chamas como carvões.
Já à porta do velório, d. Amélia lastimou que, em vez da orelha do juiz substituto, não fosse a língua de d. Finoca. Ah, isso sim. E concluiu:
— Mas foi bem feito pro juiz.
Entraram no corredor do pardieiro onde, à primeira vista, restava apenas o cadáver no meio, largado e imenso, à luz da vela que se derretia sobre uma garrafinha, a mesma garrafinha de cachaça, usada por Dionízio, quantos anos! Ainda agora servia a ele, na derradeira noite, à falta dum castiçal.
[137]
3
3
Pouco mais de um ano, Alfredo perguntava-se a si mesmo: se não me levaram para Belém, por que não fujo? Que medo, que dificuldades posso ter se passam tantas embarcações pelo rio?
com um novo acréscimo de solidões e desesperos, preso ao chalé, os pés no tijuco, muitas e muitas vezes ficava olhando o fundo do poço onde morava um muçum tão manso. A casa era a Arca de Noé encalhada no charco, castigada pelo vento das longas chuvas.
Num lento meio-dia em que contemplava, defronte do chalé, na água translúcida e morna, um majestoso peixe aruaná passeando escutou o pai murmurar:
— Aqui na Arca não é Noé quem esvazia as pipas. É a Noela.
Viu o sobrecenho do pai. Achou injusta a acusação. Passou a observar a mãe mais atentamente e a aspirar-lhe o hálito de perto. Aquele cheiro era de remédios, das cascas e raízes de patchuli e pripioca. Estava doente. E seu pai nada fazia para salvá-la. Ao contrário, citava a Bíblia.
Procurou um dia inteiro o capítulo que falava de Noé. Tinha que achar na parte do começo do mundo e era necessário não perguntar ao pai. As nove e meia da noite sozinho, sobre a mesa, encontrou isto: “E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha: E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaan, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Japhet uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E [138] despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaan — servo dos servos seja aos seus irmãos
Noutro sábado, ao regressar da casa do Salu onde, a pedido deste, recitara diante de um doutor e muitas pessoas uma poesia, ganhando aplausos e o título de menino de futuro, encontrou a mãe no banheiro, despida, de bruços sobre a bacia. A ela que ia contar o seu sucesso, para que melhor a animasse a levá-lo a Belém, a ela...
Desajeitadamente, procurou levantá-la, abraçando-lhe a cintura. Era uma nudez pesada e úmida que lhe queimava as mãos, tentou cobri-la com a toalha. Temeu, que ela se afogasse na tina ao lado. Conseguiu erguer-lhe o busto e, contra seu hábito, beijou-a muito, como se quisesse convencê-la de que devia vestir-se, deslizando a cabeça pelos seios da mãe por onde as suas lágrimas escorriam. Por fim ela soltou um gemido, arrastou-se e estendeu-se entre a bacia e a tina, de olhos cerrados, a boca crispada. Parecia adormecida. Ele a cobriu, então, com a toalha e com o seu pranto. E sentou, guardando o mistério, à porta do banheiro fechado.
Horas mais tarde, a mãe o chamava.
Alfredo quis avançar para perguntar-lhe... Não sabia como principiar. Ela saiu do banheiro, tonta ainda, indiferente ao filho que caminhou atrás, indeciso, cativo dela.
Já na cozinha, ficou silenciosa a um canto, sentada num caixote, balançando o queixo. As mãos largadas no colo como se as tivesse decepado.
Que diria, que faria, indagava o filho, por que seu pai não a levava para os médicos em Belém?
— Mamãe...
Ela estendeu as mãos para o filho que correu e mergulhou a cabeça em seu regaço, com um soluço na garganta. Mudos ambos, confundiam-se numa espécie de angustiosa solidariedade.
— Deixe, meu filho. Estou criando o porco. A Merência está engordando e você vai. Não se incomode...
Estaria aí uma acusação ao pai?
— Espere. Vou retirar a roupa no quintal.
— Não, mamãe. Vá dormir com Mariinha. Deite só um pouquinho, sim?
— Mas, meu filho, que é que está vendo em mim? Se esto boa... Eu não mudei nada. Você, sim, é que está mudando. O crescimento... Esta dor de cabeça? Passa logo. Olhe, não se importe Não se esqueça de debulhar o milho para o porco. Debulha?
— Debulho, sim. Mas se deite.
— Um pobre como você tem de estudar. A sabedoria não vem dos ricos, vem dos pobres. Tenho visto tanta gente rica, ignorante, tapada... Se lembra que, uma vez, você brincando disse que queria ser um deputado? Se lembra da Blandina quando brincava do “mando tiro, tiro lá”. Que ofício ela lhe deu?
— Não quero ser deputado, mamãe. Quero...
— ... estudar, não é?
Ele abanou com a cabeça que sim, agora, esquecido do estado da mãe para pensar unicamente em si mesmo.
Ela se dirigiu para o quintal, lenta, acenando-lhe que não acompanhasse. A porta dos fundos, de costas para o quintal, sor riu para o filho. Foi dar mais um passo à frente e rolou pela escada abaixo. Alfredo gritou pelo pai, ambos acudiram. Mas já estava ela de pé, recostada ao esteio, rindo, frouxamente. Não parecia machucada.
— Não pensem que me bati. Vou ficar sentada aqui para descansar. Seu Alberto, vá terminar a sua impressão, ande. Vai, Alfredinho, brincar. Me deixem só. Não me olhem assim espantados. Que foi? Não tenho nada.
Os dois voltaram silenciosamente para a varanda. Major Alberto continuou a imprimir os rótulos de vinho Colares do Salu. O filho, ansioso, entrou no quarto onde a irmã dormia. Aproximou-se da rede. Mariinha ignorava tudo. O sono dela como que o acalmou. Parou junto do pai e perguntou:
— Quer que eu imprima?
Era fácil de manejar aquele prelinho de um só braço e gostava de fazê-lo para “criar músculos”.
— Não. Já estou acabando, respondeu o pai com voz suave, um olhar tão afetuoso que o menino baixou a cabeça, os olhos [140] num pedaço de jornal no soalho em que se lia: Circo Variedades. O melhor circo aparecido em Belém. A estréia de um leão...
Ambos procuravam esquecer ou não falar da cena recente. Não houve entre os dois outro assunto para a conversa que tanto desejariam travar. Permaneciam tímidos, guardando distância, sem indícios de hostilidade, desconfiança ou indiferença um pelo outro. Estavam solitários demais para que pudessem conversar, achar uma solução “para aquilo”.
Ao acabar o último rótulo, com a ponta da língua de fora, sinal de irônica satisfação, Major exclamou:
— Vinho Colares... Colares. Está fresco, está fresco... Afinal Salu tem que me passar os bagarotes. Serve para o sabão... o querosene... Nesta, Rodolfo não me apanha. O patife foi cobrar, naquela vez, a conta dos rótulos de vinagre e me pediu o cobre... Lá é vinho Colares. Vinho... Vinho... Aqui não se bebe vinho... Bem sei o que se bebe... Vinho... Eu bem sei o vinho...
Por último já falava para si mesmo como se temesse falar para o menino, porque este com certeza saberia de quem falava.
Alfredo foi ver a mãe, achando esquisito que Rodolfo continuasse a trabalhar na tipografia apesar de tudo aquilo. Seus pais... Não sabia porque preferia chamar “papai”, “mamãe”, “meu pai”, “minha mãe” sempre separados e não pais.
Viu-a sentada. Ela fez-lhe sinal para que fosse embora. E a atenção do menino se voltou então para uma borboleta que entrara lo campo por uma janela da varanda.
Foi acompanhando o vôo: azul, de pontas douradas, pousava ia mesa de jantar, depois no soalho, logo na parede; enfiou pelo corredor, roçando pela asa de um caneco; varou pela porta da despensa, pousando no paneiro de farinha, mão de milho, no açucareiro do aparador. Que imenso vôo, na verdade, quantos espaços, quanta distância, quantas coisas desconhecidas, que imenso tempo levou voando agora a borboleta?
Tentou apanhá-la, mas o importante era vê-la bailando, insatisfeita, nas suas viagens.
[141] Viu-a um instante, quieta, como enamorada de si mesma, suas cores, seus movimentos, sua graça. Gostaria de trazer-lhe o espelho para que ela se mirasse longamente e tivesse a confirmação de que era belo. Quis ir ao quarto buscá-lo e temeu acordar Mariinha, que viria estragar tudo.
Para melhor divertir-se, tirou um torrão de açúcar e colocou no aparador em torno do qual a borboleta deu um giro rápido. As asinhas dançavam e em Alfredo nasceram outras idéias menos generosas a respeito da bailarina. Fechou a despensa, assustando os ratos que espreitavam a cena, encolhidos nas telhas. A borboleta murchou na semiescuridão, parecia desmaiada.
Ao aproximar-se dela, voou, de súbito, num rodopio até a parede. Alfredo acendeu a lamparina, fez-se um cenário de fogo e principiou a persegui-la, sem pressa e com delícia. Ela voltou a ficar quieta; talvez se preparasse para sumir como um anjo, mas matéria é matéria, era uma borboleta, frágil e errante bailarina e o menino a queimou.
Logo recuou, perturbado. As cinzas da inocente jaziam no chão, espalhavam-se no ar da despensa fechada. Cinzas que seriam também de Mariinha se fosse totalmente queimada naquela noite. Jurara nunca mais brincar com fogo e agora não apenas brincara, como chegara a queimar uma borboleta que dançava para ele, que viera consolá-lo. Depois, aparição de borboleta era sinal de boa sorte, como dizia Lucíola, — mamãe curada? Colégio?
Deprimido, pôs-se cuidadosamente a juntar aquele tão pouco pó do que fora uma borboleta e, receando que Mariinha já estivesse acordada, fugiu pelos fundos.
Fez um pequeno sulco à beira da vala, ai enterrou as cinzas da bailarina. E ergueu o olhar para as janelas do chalé. Mariinha esfregava o rosto e apontava.
— Que foi? Que está fazendo aí? Enterrando o que?
— Uma semente...
— Que semente?
— Mistério. Tem que adivinhar. Adivinha, anda.
A irmã, mãozinha em pala, fez uma caneta e recolheu-se.
[142] Semanas depois do episódio da borboleta — como se julgou inconstante e desleal! — depois do uruá achado no campo e de alguns dias de quietude até certo ponto surpreendente no chalé. Alfredo encaminhava-se para a pontezinha sobre a vala que descia, paralelo ao aterro da rua. Este acabava precisamente ao pé da pontezinha.
Pôs-se a examinar a água que passava. Vinha daqueles recantos que para ele adquiriam significações especiais. Sua imaginação dava-lhes distâncias e segredos. Desde os seis anos, acostumara-se a imaginar assim e se agora a maior parte dessas impressões lhe parecia pueril, divertia-se muitas vezes com elas. Estar naquela pontezinha era enfiar-se no maravilhoso e olhar quase de frente o chalé, as janelas como que se fechavam por si mesmas, quando o sol da tarde dava em cheio. A vala, por exemplo, drenava a água e o enxurro dos terrenos situados entre a casa do Salu e a de Lucíola. Ali, em torno de alguns velhos esteios fincados e de um pequeno aterro que fora outrora chão de uma barraca, crescia um algodoal brabo e bataranas, um pé de ipeca, uma árvore desconhecida, o jenipapeiro ainda novo, tudo isto se distanciava e se tornava estranho ao chalé; era de outro clima, povoado por outros entes de linguagem desconhecida.
É certo que algumas vezes brincara naquele terreno com os filhos do Cícero Câmara. Fugindo, entre o algodoal, de uma nuvem de cabas que tinham casa por ali, topou um caco de xícara azul em que via uma menina brincando num jardim. Correu para a Cecília Câmara e lhe disse, encontrei o teu retrato.
Mas os filhos do Cícero Câmara haviam partido. Olavo, um deles, morrera, em Bragança, de uma constipação apanhada ao sair do cinema. Este detalhe era para Alfredo de uma precisão inesquecível. Talvez fosse porque nunca houve, nem cedo haverá cinema em Cachoeira. Lucíola aconselhara-o a não andar mais por ali, depois que os filhos do Cícero Câmara partiram. Os moleques, de que se aproximava, eram perniciosos, advertia ela. Acrescentava que vira uma cobra pepéua esconder-se justamente no capinzal onde os meninos brincavam de juju. Inventou muitos cacos de vidro e centopéias, para que Alfredo se convencesse. O que [143] afinal não era necessário. O menino tinha a imaginação da aventura e não o seu impulso. Lembrava-se dos amigos ausentes e tão breves, das meninas rosadinhas que exalavam aquele cheiro, cada vez mais penetrante, da mulher que nascia nelas. Comparava aqueles terrenos baldios ou abandonados a um cemitério.
Afastado daqueles recantos, o chalé era-lhe uma área inteiramente preciosa, tão sua, restrita e universal, vasto mundo a conhecer e sondar, para descobrir-lhe as íntimas paisagens, as diferentes temperaturas, as misteriosas povoações do subsolo etc. Aquela pontezinha era a frágil ligação com a inexplicável infinidade das outras áreas do mundo. E verdade que nestas, à beira do mar, recostado na montanha, o colégio esperava-o.
Agora, na pontezinha, Alfredo contemplava o chalé, a estrela frontal, o cenho franzido das quatro janelas, os losangos na barra, feitos pelo mestre Candinho. Num luar, surpreendeu o rosto do chalé com os seus quatro olhos fechados sem aquele ar um tanto carrancudo. Estava adormecido, porém satisfeito com os seus habitantes. De ordinário, era aquela cara cheia de reflexões, as quatro janelas olhavam o rio com visível desdém. Havia, com efeito, uma espécie de conflito entre o rio e o chalé. Este parado, sempre, aquele sempre em movimento. E entre os dois, Alfredo, cheio de ambos, não sabia escolher.
Em torno do chalé, jovens pitombeiras, o capim, as poucas árvores que não cresciam nem tinham idade, a cerca que parecia ter brotado ali como as plantas, objetos e seres que viviam dentro, conversando longamente com o menino. Eram a sua casa, a sua profunda propriedade e esse sentimento de posse em Alfredo tinha a medida de sua imaginação. Por isso, os outros lugares, objetos e pessoas tornavam-se mais distantes, inspirando-lhe algum medo ou tédio, noções de lenda e proibidas aspirações.
O trecho da vala mais grato a Alfredo nascia debaixo da ponte até dobrar no alagadiço, coberto pelo algodoal brabo, que desembocava no rio. Tinha uns 40 metros de comprimento, entre os dois estreitos e lisos caminhos dos pés descalços que moravam nas barracas da rua baixa. Nas margens não vingava o capim, uma ou outra pedra, e um afluente, a pequena vala que escorria do quintal e onde os patos se banhavam ao sol.
[144] Deitou-se ao comprido na pontezinha, olhando o fundo da vala. A água descia vagarosamente sobre a lama, arrastando resíduos misteriosos, uma pena de pássaro, uma asa, pequenos náufragos como formigas, sapinhos, mosquitos acompanhando o curso, folhas, reflexos e vozes de outros países diluídas naquele murmúrio leve, por vezes indistinto. Assim o mundo através daquele leito de vala lhe pareceu complicado, com mil e uma fronteiras, descomunal como o desconhecido mundo das cidades, a Ásia, a África. Imaginava, por isto, o mundo inteiro visto de cima de uma ponte sobre a lua ou da cauda de um cometa.
Aí a lembrança do cometa levou-o a rever o pai à janela, quando explicava a d. Amélia que o cometa, de forma alguma poderia tocar na terra. Os cálculos dos astrônomos eram prodigiosamente exatos. Seu pai seria sem dúvida um astrônomo, se tivesse podido estudar. Sabia dar nome às estrelas, apontava o céu como coisa de sua maior intimidade, enchendo a boca com a palavra Firmamento. No íntimo, sua mãe deveria ficar bastante admirada com os conhecimentos do pai. Ela porém nem “seu Sousa”, como gostava de dizer, para demonstrar que não tinha surpresa nem perturbações com o que acontecia. Ouvia tudo que o Major falava a respeito do céu e seus inquilinos, como se fosse muito natural que ele estivesse a par do que sucedia dentro de tamanha casa que era aquela, aberta sobre os campos, sobre o chalé. Major Alberto, nas suas conversações astronômicas, se deixava levar por uma fé na ciência que não lhe era habitual. Esquecia as advertências do Evangelho, os fascículos de Santa Rita de Cássia, e enumerava os cálculos, as “distâncias siderais”, os observatórios, as previsões, num galope afoito pelo firmamento. Para o menino tudo era tão complicado como aquele mundo menos brilhante dali, embaixo, na vala. Ouvira o pai dizer, depois do galope, num tom de confidência:
— Se eles se descuidarem, psiu... a ciência, psiu, passa a perna no Pai Eterno.
O velho depois sorria, quem sabe se surpreso e temeroso do que dissera, como se também se sentisse um pouco sem equilíbrio no mundo ao arriscar-se, em Cachoeira, a semelhante [145] previsão. Sua mãe, a mesma, nem um movimento de surpresa. Recolhia o seu silêncio todas as afirmações ousadas e as descobertas da ciência que o Major lhe comunicava, aceitando-as até. Se um dia deixasse de acreditar em Deus não daria talvez por isso. Nada esperassem dela em questões de feitiçarias, macumbas, terreiros negros, aparição de fantasmas. Se longe de Cachoeira morria algum conhecido seu, este poderia dar-lhe algum aviso, julgava ouvir-lhe a voz uma ou outra noite, prestava atenção em algumas coincidências que poderiam perturbar-lhe o espírito. Sim, podia acontecer. Mais verdadeiro, no entanto, era a astronomia — vissem as previsões dos almanaques — acreditava nos sábios como pessoas, palavras, sabiam. E se os sábios estavam tomando conta do céu, para onde se refugiariam os anjos, os santos e Nosso Senhor?
Major, por malícia, ou libertinagem e cinqüentão, lia para ela alguns trechos da Bíblia que falavam das sucessivas gerações de Abel em que irmãs pariam de irmãos, Salomão falava dos peitos partes da Sulamita e d. Amélia, calma, dava a sua opinião:
— Muita safadeza.
Major fechava risonhamente a Bíblia e logo voltava para declamar algum pedaço de Job, dos Provérbios e mesmo do Apocalipse. D. Amélia, aí, ou por cansaço ou pelos incômodos da mentia:
— Chega por hoje, seu Alberto. Tenho ainda de ver se está fechado o chiqueiro do porco.
E isso era também para Alfredo o caminho do colégio: o porco, vendido, ajudaria a viagem.
Neste pensamento em que voltavam as conversas do chalé, Alfredo deu com a figura de sua mãe numa das janelas da frente. Era um rosto bem negro ao sol, que fosse separado do corpo, suspenso no fundo da janela. O menino perturbou-se com o contraste entre a imagem do cometa e a aparição de sua mãe, que lembrava um eclipse, um cometa morto, e bruscamente dominou-o um misto de humilhação e de ressentimento, não sabia explicar. Nela restava a única esperança de partir, oculta naquela escuridão cintilava a cidade, dela dependia a viagem para que ele pudesse um ser homem — um astrônomo, quem sabe? No entanto, [146] houve tempo em que desejou não ter nascido daquela mãe... E um remorso escorreu-lhe do coração, como a lama daquela vala.
Tentando desculpar-se a si mesmo, resolveu procurar o livro que tinha a fotografia do cometa, interessando a mãe.
— Mamãe, onde deve estar o livro do cometa?
Ela teve um estranho movimento, os lábios se contraíram e leu um sorriso que fez estremecer o menino. Era conveniente deixá-la naquele silêncio.
Entrou e procurou nas duas estantes o livro do cometa. Em tão. Quis consultar o dicionário. Achou esquecida entre as páginas deste um bilhete da professora ao pai, em que lhe falava do papagaio. Não encontrou o cometa e rasgou em miudinho o bilhete extraviado. Também perdera o impulso da busca. Cessara descargo da consciência. Passou a fazer uma comparação entre ofício de fogueteiro do pai e o conhecimento dos astros. Por que não faziam encomendas de fogos a seu pai? E concluiu que pai era um fogueteiro por não ter podido ser um astrônomo.
Fugindo daquelas situações que se multiplicavam no chalé, e como se buscasse o ímpeto da fuga, Alfredo recolhia-se ao jogo do faz de conta tão pegado à sua infância. Era então necessário aquele carocinho na palma da mão, subindo e descendo de onde, magicamente, desenrolava a vida que queria. E tão entretido ficava! Ao olhar depois o chalé, a paisagem em torno, sentia-se como um estranho ou como se estivesse voltado de Muaná numa daquelas viagens a remo em companhia do pai, chegando de madrugada. O chalé lhe aparecia entre o canto dos galos e o orvalho sobre o rio, como renovado e restituído. Não saberia definir bem essa impressão de chegada, a aparição do chalé, gosto de surpreender as pessoas dormindo ou abrir a porta de onde tudo está ainda impreciso, sonolento e tomado de singular expectativa que é talvez o pressentimento da madrugada.
Com efeito, o carocinho de tucumã na palma da mão e no ar, era movido por um mecanismo imaginário, por um pajezinho fazendo artes dentro do coco.
Consumia oito ou mais carocinhos daqueles para o jogo em [147] que movia a imaginação como um fuso. Não os apanhava das palmeiras cheias de espinhos nem dos frutos no chão, quando caíam de maduros, nem dos paneiros que vinham do Pindobal. Ninguém, antes dele, inventara aquele estilo de faz de conta que não transmitiria a ninguém nem ninguém saberia. E como inventara? Como foi? Indagava a si mesmo, um tanto intrigado com as suas próprias fantasias. E havia particularidades na invenção. Por exemplo: os coquinhos inteiros, os tucumãs, não se prestavam ao jogo, aquele balanço, de mão em mão, em que o coco ia de um lado a outro.
Ia ao cocho dos porcos onde ficavam os caroços frescos ainda da casca devorada, como pequenos ossos mal descarnados. Escolhia um deles. Deixava alisar-se no chão, secar ao sol, afeiçoar-se nova existência, compreender o seu ofício mágico. Para fazê-lo pular nas mãos imediatamente era necessário um caroço descoberto ao acaso, meio enterrado, escuro como madeira acapu batida de chuva, pés de animais, de meninos e homens, sereno, sol. .Nem todos tinham os elementos que a imaginação exigia, o dom. Era também o moinho em que moía o seu aborrecimento e a sua raiva.
Quantas vezes, para encontrar um bom carocinho, não corria o quintal inteiro, debaixo do chalé, rondando o poço, em secretas escavações! Quando o descobria, lavava-o, secava-o ao sol e eis que caía na palma da mão como um filhote de pássaro. Jogava-o no ar para o treino indispensável. A princípio, o carocinho conduzia-se com certa insubmissão e impaciência, ora desaparecendo pelas moitas, escapulindo entre os dedos. Escondia-se.
Não esquecerá a manhã em que a Minu o ajudara a procura-lo, farejando aqui e ali, até que o trouxe na boca. Teve que lavá-lo e o seu agradecimento naquela hora foi mandar, asperamente, a cadela para dentro.
Outros caroços, bilros de almofada, bolas de gude, tucumã verde ou inteiro, Lucíola lhe dava como se quisesse intrometer-se naquela tão solitária magia. Ele repelia os presentes. Escolhendo o caroço do chão, ai, sim.
com um novo acréscimo de solidões e desesperos, preso ao chalé, os pés no tijuco, muitas e muitas vezes ficava olhando o fundo do poço onde morava um muçum tão manso. A casa era a Arca de Noé encalhada no charco, castigada pelo vento das longas chuvas.
Num lento meio-dia em que contemplava, defronte do chalé, na água translúcida e morna, um majestoso peixe aruaná passeando escutou o pai murmurar:
— Aqui na Arca não é Noé quem esvazia as pipas. É a Noela.
Viu o sobrecenho do pai. Achou injusta a acusação. Passou a observar a mãe mais atentamente e a aspirar-lhe o hálito de perto. Aquele cheiro era de remédios, das cascas e raízes de patchuli e pripioca. Estava doente. E seu pai nada fazia para salvá-la. Ao contrário, citava a Bíblia.
Procurou um dia inteiro o capítulo que falava de Noé. Tinha que achar na parte do começo do mundo e era necessário não perguntar ao pai. As nove e meia da noite sozinho, sobre a mesa, encontrou isto: “E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha: E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaan, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Japhet uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E [138] despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaan — servo dos servos seja aos seus irmãos
Noutro sábado, ao regressar da casa do Salu onde, a pedido deste, recitara diante de um doutor e muitas pessoas uma poesia, ganhando aplausos e o título de menino de futuro, encontrou a mãe no banheiro, despida, de bruços sobre a bacia. A ela que ia contar o seu sucesso, para que melhor a animasse a levá-lo a Belém, a ela...
Desajeitadamente, procurou levantá-la, abraçando-lhe a cintura. Era uma nudez pesada e úmida que lhe queimava as mãos, tentou cobri-la com a toalha. Temeu, que ela se afogasse na tina ao lado. Conseguiu erguer-lhe o busto e, contra seu hábito, beijou-a muito, como se quisesse convencê-la de que devia vestir-se, deslizando a cabeça pelos seios da mãe por onde as suas lágrimas escorriam. Por fim ela soltou um gemido, arrastou-se e estendeu-se entre a bacia e a tina, de olhos cerrados, a boca crispada. Parecia adormecida. Ele a cobriu, então, com a toalha e com o seu pranto. E sentou, guardando o mistério, à porta do banheiro fechado.
Horas mais tarde, a mãe o chamava.
Alfredo quis avançar para perguntar-lhe... Não sabia como principiar. Ela saiu do banheiro, tonta ainda, indiferente ao filho que caminhou atrás, indeciso, cativo dela.
Já na cozinha, ficou silenciosa a um canto, sentada num caixote, balançando o queixo. As mãos largadas no colo como se as tivesse decepado.
Que diria, que faria, indagava o filho, por que seu pai não a levava para os médicos em Belém?
— Mamãe...
Ela estendeu as mãos para o filho que correu e mergulhou a cabeça em seu regaço, com um soluço na garganta. Mudos ambos, confundiam-se numa espécie de angustiosa solidariedade.
— Deixe, meu filho. Estou criando o porco. A Merência está engordando e você vai. Não se incomode...
Estaria aí uma acusação ao pai?
— Espere. Vou retirar a roupa no quintal.
— Não, mamãe. Vá dormir com Mariinha. Deite só um pouquinho, sim?
— Mas, meu filho, que é que está vendo em mim? Se esto boa... Eu não mudei nada. Você, sim, é que está mudando. O crescimento... Esta dor de cabeça? Passa logo. Olhe, não se importe Não se esqueça de debulhar o milho para o porco. Debulha?
— Debulho, sim. Mas se deite.
— Um pobre como você tem de estudar. A sabedoria não vem dos ricos, vem dos pobres. Tenho visto tanta gente rica, ignorante, tapada... Se lembra que, uma vez, você brincando disse que queria ser um deputado? Se lembra da Blandina quando brincava do “mando tiro, tiro lá”. Que ofício ela lhe deu?
— Não quero ser deputado, mamãe. Quero...
— ... estudar, não é?
Ele abanou com a cabeça que sim, agora, esquecido do estado da mãe para pensar unicamente em si mesmo.
Ela se dirigiu para o quintal, lenta, acenando-lhe que não acompanhasse. A porta dos fundos, de costas para o quintal, sor riu para o filho. Foi dar mais um passo à frente e rolou pela escada abaixo. Alfredo gritou pelo pai, ambos acudiram. Mas já estava ela de pé, recostada ao esteio, rindo, frouxamente. Não parecia machucada.
— Não pensem que me bati. Vou ficar sentada aqui para descansar. Seu Alberto, vá terminar a sua impressão, ande. Vai, Alfredinho, brincar. Me deixem só. Não me olhem assim espantados. Que foi? Não tenho nada.
Os dois voltaram silenciosamente para a varanda. Major Alberto continuou a imprimir os rótulos de vinho Colares do Salu. O filho, ansioso, entrou no quarto onde a irmã dormia. Aproximou-se da rede. Mariinha ignorava tudo. O sono dela como que o acalmou. Parou junto do pai e perguntou:
— Quer que eu imprima?
Era fácil de manejar aquele prelinho de um só braço e gostava de fazê-lo para “criar músculos”.
— Não. Já estou acabando, respondeu o pai com voz suave, um olhar tão afetuoso que o menino baixou a cabeça, os olhos [140] num pedaço de jornal no soalho em que se lia: Circo Variedades. O melhor circo aparecido em Belém. A estréia de um leão...
Ambos procuravam esquecer ou não falar da cena recente. Não houve entre os dois outro assunto para a conversa que tanto desejariam travar. Permaneciam tímidos, guardando distância, sem indícios de hostilidade, desconfiança ou indiferença um pelo outro. Estavam solitários demais para que pudessem conversar, achar uma solução “para aquilo”.
Ao acabar o último rótulo, com a ponta da língua de fora, sinal de irônica satisfação, Major exclamou:
— Vinho Colares... Colares. Está fresco, está fresco... Afinal Salu tem que me passar os bagarotes. Serve para o sabão... o querosene... Nesta, Rodolfo não me apanha. O patife foi cobrar, naquela vez, a conta dos rótulos de vinagre e me pediu o cobre... Lá é vinho Colares. Vinho... Vinho... Aqui não se bebe vinho... Bem sei o que se bebe... Vinho... Eu bem sei o vinho...
Por último já falava para si mesmo como se temesse falar para o menino, porque este com certeza saberia de quem falava.
Alfredo foi ver a mãe, achando esquisito que Rodolfo continuasse a trabalhar na tipografia apesar de tudo aquilo. Seus pais... Não sabia porque preferia chamar “papai”, “mamãe”, “meu pai”, “minha mãe” sempre separados e não pais.
Viu-a sentada. Ela fez-lhe sinal para que fosse embora. E a atenção do menino se voltou então para uma borboleta que entrara lo campo por uma janela da varanda.
Foi acompanhando o vôo: azul, de pontas douradas, pousava ia mesa de jantar, depois no soalho, logo na parede; enfiou pelo corredor, roçando pela asa de um caneco; varou pela porta da despensa, pousando no paneiro de farinha, mão de milho, no açucareiro do aparador. Que imenso vôo, na verdade, quantos espaços, quanta distância, quantas coisas desconhecidas, que imenso tempo levou voando agora a borboleta?
Tentou apanhá-la, mas o importante era vê-la bailando, insatisfeita, nas suas viagens.
[141] Viu-a um instante, quieta, como enamorada de si mesma, suas cores, seus movimentos, sua graça. Gostaria de trazer-lhe o espelho para que ela se mirasse longamente e tivesse a confirmação de que era belo. Quis ir ao quarto buscá-lo e temeu acordar Mariinha, que viria estragar tudo.
Para melhor divertir-se, tirou um torrão de açúcar e colocou no aparador em torno do qual a borboleta deu um giro rápido. As asinhas dançavam e em Alfredo nasceram outras idéias menos generosas a respeito da bailarina. Fechou a despensa, assustando os ratos que espreitavam a cena, encolhidos nas telhas. A borboleta murchou na semiescuridão, parecia desmaiada.
Ao aproximar-se dela, voou, de súbito, num rodopio até a parede. Alfredo acendeu a lamparina, fez-se um cenário de fogo e principiou a persegui-la, sem pressa e com delícia. Ela voltou a ficar quieta; talvez se preparasse para sumir como um anjo, mas matéria é matéria, era uma borboleta, frágil e errante bailarina e o menino a queimou.
Logo recuou, perturbado. As cinzas da inocente jaziam no chão, espalhavam-se no ar da despensa fechada. Cinzas que seriam também de Mariinha se fosse totalmente queimada naquela noite. Jurara nunca mais brincar com fogo e agora não apenas brincara, como chegara a queimar uma borboleta que dançava para ele, que viera consolá-lo. Depois, aparição de borboleta era sinal de boa sorte, como dizia Lucíola, — mamãe curada? Colégio?
Deprimido, pôs-se cuidadosamente a juntar aquele tão pouco pó do que fora uma borboleta e, receando que Mariinha já estivesse acordada, fugiu pelos fundos.
Fez um pequeno sulco à beira da vala, ai enterrou as cinzas da bailarina. E ergueu o olhar para as janelas do chalé. Mariinha esfregava o rosto e apontava.
— Que foi? Que está fazendo aí? Enterrando o que?
— Uma semente...
— Que semente?
— Mistério. Tem que adivinhar. Adivinha, anda.
A irmã, mãozinha em pala, fez uma caneta e recolheu-se.
[142] Semanas depois do episódio da borboleta — como se julgou inconstante e desleal! — depois do uruá achado no campo e de alguns dias de quietude até certo ponto surpreendente no chalé. Alfredo encaminhava-se para a pontezinha sobre a vala que descia, paralelo ao aterro da rua. Este acabava precisamente ao pé da pontezinha.
Pôs-se a examinar a água que passava. Vinha daqueles recantos que para ele adquiriam significações especiais. Sua imaginação dava-lhes distâncias e segredos. Desde os seis anos, acostumara-se a imaginar assim e se agora a maior parte dessas impressões lhe parecia pueril, divertia-se muitas vezes com elas. Estar naquela pontezinha era enfiar-se no maravilhoso e olhar quase de frente o chalé, as janelas como que se fechavam por si mesmas, quando o sol da tarde dava em cheio. A vala, por exemplo, drenava a água e o enxurro dos terrenos situados entre a casa do Salu e a de Lucíola. Ali, em torno de alguns velhos esteios fincados e de um pequeno aterro que fora outrora chão de uma barraca, crescia um algodoal brabo e bataranas, um pé de ipeca, uma árvore desconhecida, o jenipapeiro ainda novo, tudo isto se distanciava e se tornava estranho ao chalé; era de outro clima, povoado por outros entes de linguagem desconhecida.
É certo que algumas vezes brincara naquele terreno com os filhos do Cícero Câmara. Fugindo, entre o algodoal, de uma nuvem de cabas que tinham casa por ali, topou um caco de xícara azul em que via uma menina brincando num jardim. Correu para a Cecília Câmara e lhe disse, encontrei o teu retrato.
Mas os filhos do Cícero Câmara haviam partido. Olavo, um deles, morrera, em Bragança, de uma constipação apanhada ao sair do cinema. Este detalhe era para Alfredo de uma precisão inesquecível. Talvez fosse porque nunca houve, nem cedo haverá cinema em Cachoeira. Lucíola aconselhara-o a não andar mais por ali, depois que os filhos do Cícero Câmara partiram. Os moleques, de que se aproximava, eram perniciosos, advertia ela. Acrescentava que vira uma cobra pepéua esconder-se justamente no capinzal onde os meninos brincavam de juju. Inventou muitos cacos de vidro e centopéias, para que Alfredo se convencesse. O que [143] afinal não era necessário. O menino tinha a imaginação da aventura e não o seu impulso. Lembrava-se dos amigos ausentes e tão breves, das meninas rosadinhas que exalavam aquele cheiro, cada vez mais penetrante, da mulher que nascia nelas. Comparava aqueles terrenos baldios ou abandonados a um cemitério.
Afastado daqueles recantos, o chalé era-lhe uma área inteiramente preciosa, tão sua, restrita e universal, vasto mundo a conhecer e sondar, para descobrir-lhe as íntimas paisagens, as diferentes temperaturas, as misteriosas povoações do subsolo etc. Aquela pontezinha era a frágil ligação com a inexplicável infinidade das outras áreas do mundo. E verdade que nestas, à beira do mar, recostado na montanha, o colégio esperava-o.
Agora, na pontezinha, Alfredo contemplava o chalé, a estrela frontal, o cenho franzido das quatro janelas, os losangos na barra, feitos pelo mestre Candinho. Num luar, surpreendeu o rosto do chalé com os seus quatro olhos fechados sem aquele ar um tanto carrancudo. Estava adormecido, porém satisfeito com os seus habitantes. De ordinário, era aquela cara cheia de reflexões, as quatro janelas olhavam o rio com visível desdém. Havia, com efeito, uma espécie de conflito entre o rio e o chalé. Este parado, sempre, aquele sempre em movimento. E entre os dois, Alfredo, cheio de ambos, não sabia escolher.
Em torno do chalé, jovens pitombeiras, o capim, as poucas árvores que não cresciam nem tinham idade, a cerca que parecia ter brotado ali como as plantas, objetos e seres que viviam dentro, conversando longamente com o menino. Eram a sua casa, a sua profunda propriedade e esse sentimento de posse em Alfredo tinha a medida de sua imaginação. Por isso, os outros lugares, objetos e pessoas tornavam-se mais distantes, inspirando-lhe algum medo ou tédio, noções de lenda e proibidas aspirações.
O trecho da vala mais grato a Alfredo nascia debaixo da ponte até dobrar no alagadiço, coberto pelo algodoal brabo, que desembocava no rio. Tinha uns 40 metros de comprimento, entre os dois estreitos e lisos caminhos dos pés descalços que moravam nas barracas da rua baixa. Nas margens não vingava o capim, uma ou outra pedra, e um afluente, a pequena vala que escorria do quintal e onde os patos se banhavam ao sol.
[144] Deitou-se ao comprido na pontezinha, olhando o fundo da vala. A água descia vagarosamente sobre a lama, arrastando resíduos misteriosos, uma pena de pássaro, uma asa, pequenos náufragos como formigas, sapinhos, mosquitos acompanhando o curso, folhas, reflexos e vozes de outros países diluídas naquele murmúrio leve, por vezes indistinto. Assim o mundo através daquele leito de vala lhe pareceu complicado, com mil e uma fronteiras, descomunal como o desconhecido mundo das cidades, a Ásia, a África. Imaginava, por isto, o mundo inteiro visto de cima de uma ponte sobre a lua ou da cauda de um cometa.
Aí a lembrança do cometa levou-o a rever o pai à janela, quando explicava a d. Amélia que o cometa, de forma alguma poderia tocar na terra. Os cálculos dos astrônomos eram prodigiosamente exatos. Seu pai seria sem dúvida um astrônomo, se tivesse podido estudar. Sabia dar nome às estrelas, apontava o céu como coisa de sua maior intimidade, enchendo a boca com a palavra Firmamento. No íntimo, sua mãe deveria ficar bastante admirada com os conhecimentos do pai. Ela porém nem “seu Sousa”, como gostava de dizer, para demonstrar que não tinha surpresa nem perturbações com o que acontecia. Ouvia tudo que o Major falava a respeito do céu e seus inquilinos, como se fosse muito natural que ele estivesse a par do que sucedia dentro de tamanha casa que era aquela, aberta sobre os campos, sobre o chalé. Major Alberto, nas suas conversações astronômicas, se deixava levar por uma fé na ciência que não lhe era habitual. Esquecia as advertências do Evangelho, os fascículos de Santa Rita de Cássia, e enumerava os cálculos, as “distâncias siderais”, os observatórios, as previsões, num galope afoito pelo firmamento. Para o menino tudo era tão complicado como aquele mundo menos brilhante dali, embaixo, na vala. Ouvira o pai dizer, depois do galope, num tom de confidência:
— Se eles se descuidarem, psiu... a ciência, psiu, passa a perna no Pai Eterno.
O velho depois sorria, quem sabe se surpreso e temeroso do que dissera, como se também se sentisse um pouco sem equilíbrio no mundo ao arriscar-se, em Cachoeira, a semelhante [145] previsão. Sua mãe, a mesma, nem um movimento de surpresa. Recolhia o seu silêncio todas as afirmações ousadas e as descobertas da ciência que o Major lhe comunicava, aceitando-as até. Se um dia deixasse de acreditar em Deus não daria talvez por isso. Nada esperassem dela em questões de feitiçarias, macumbas, terreiros negros, aparição de fantasmas. Se longe de Cachoeira morria algum conhecido seu, este poderia dar-lhe algum aviso, julgava ouvir-lhe a voz uma ou outra noite, prestava atenção em algumas coincidências que poderiam perturbar-lhe o espírito. Sim, podia acontecer. Mais verdadeiro, no entanto, era a astronomia — vissem as previsões dos almanaques — acreditava nos sábios como pessoas, palavras, sabiam. E se os sábios estavam tomando conta do céu, para onde se refugiariam os anjos, os santos e Nosso Senhor?
Major, por malícia, ou libertinagem e cinqüentão, lia para ela alguns trechos da Bíblia que falavam das sucessivas gerações de Abel em que irmãs pariam de irmãos, Salomão falava dos peitos partes da Sulamita e d. Amélia, calma, dava a sua opinião:
— Muita safadeza.
Major fechava risonhamente a Bíblia e logo voltava para declamar algum pedaço de Job, dos Provérbios e mesmo do Apocalipse. D. Amélia, aí, ou por cansaço ou pelos incômodos da mentia:
— Chega por hoje, seu Alberto. Tenho ainda de ver se está fechado o chiqueiro do porco.
E isso era também para Alfredo o caminho do colégio: o porco, vendido, ajudaria a viagem.
Neste pensamento em que voltavam as conversas do chalé, Alfredo deu com a figura de sua mãe numa das janelas da frente. Era um rosto bem negro ao sol, que fosse separado do corpo, suspenso no fundo da janela. O menino perturbou-se com o contraste entre a imagem do cometa e a aparição de sua mãe, que lembrava um eclipse, um cometa morto, e bruscamente dominou-o um misto de humilhação e de ressentimento, não sabia explicar. Nela restava a única esperança de partir, oculta naquela escuridão cintilava a cidade, dela dependia a viagem para que ele pudesse um ser homem — um astrônomo, quem sabe? No entanto, [146] houve tempo em que desejou não ter nascido daquela mãe... E um remorso escorreu-lhe do coração, como a lama daquela vala.
Tentando desculpar-se a si mesmo, resolveu procurar o livro que tinha a fotografia do cometa, interessando a mãe.
— Mamãe, onde deve estar o livro do cometa?
Ela teve um estranho movimento, os lábios se contraíram e leu um sorriso que fez estremecer o menino. Era conveniente deixá-la naquele silêncio.
Entrou e procurou nas duas estantes o livro do cometa. Em tão. Quis consultar o dicionário. Achou esquecida entre as páginas deste um bilhete da professora ao pai, em que lhe falava do papagaio. Não encontrou o cometa e rasgou em miudinho o bilhete extraviado. Também perdera o impulso da busca. Cessara descargo da consciência. Passou a fazer uma comparação entre ofício de fogueteiro do pai e o conhecimento dos astros. Por que não faziam encomendas de fogos a seu pai? E concluiu que pai era um fogueteiro por não ter podido ser um astrônomo.
Fugindo daquelas situações que se multiplicavam no chalé, e como se buscasse o ímpeto da fuga, Alfredo recolhia-se ao jogo do faz de conta tão pegado à sua infância. Era então necessário aquele carocinho na palma da mão, subindo e descendo de onde, magicamente, desenrolava a vida que queria. E tão entretido ficava! Ao olhar depois o chalé, a paisagem em torno, sentia-se como um estranho ou como se estivesse voltado de Muaná numa daquelas viagens a remo em companhia do pai, chegando de madrugada. O chalé lhe aparecia entre o canto dos galos e o orvalho sobre o rio, como renovado e restituído. Não saberia definir bem essa impressão de chegada, a aparição do chalé, gosto de surpreender as pessoas dormindo ou abrir a porta de onde tudo está ainda impreciso, sonolento e tomado de singular expectativa que é talvez o pressentimento da madrugada.
Com efeito, o carocinho de tucumã na palma da mão e no ar, era movido por um mecanismo imaginário, por um pajezinho fazendo artes dentro do coco.
Consumia oito ou mais carocinhos daqueles para o jogo em [147] que movia a imaginação como um fuso. Não os apanhava das palmeiras cheias de espinhos nem dos frutos no chão, quando caíam de maduros, nem dos paneiros que vinham do Pindobal. Ninguém, antes dele, inventara aquele estilo de faz de conta que não transmitiria a ninguém nem ninguém saberia. E como inventara? Como foi? Indagava a si mesmo, um tanto intrigado com as suas próprias fantasias. E havia particularidades na invenção. Por exemplo: os coquinhos inteiros, os tucumãs, não se prestavam ao jogo, aquele balanço, de mão em mão, em que o coco ia de um lado a outro.
Ia ao cocho dos porcos onde ficavam os caroços frescos ainda da casca devorada, como pequenos ossos mal descarnados. Escolhia um deles. Deixava alisar-se no chão, secar ao sol, afeiçoar-se nova existência, compreender o seu ofício mágico. Para fazê-lo pular nas mãos imediatamente era necessário um caroço descoberto ao acaso, meio enterrado, escuro como madeira acapu batida de chuva, pés de animais, de meninos e homens, sereno, sol. .Nem todos tinham os elementos que a imaginação exigia, o dom. Era também o moinho em que moía o seu aborrecimento e a sua raiva.
Quantas vezes, para encontrar um bom carocinho, não corria o quintal inteiro, debaixo do chalé, rondando o poço, em secretas escavações! Quando o descobria, lavava-o, secava-o ao sol e eis que caía na palma da mão como um filhote de pássaro. Jogava-o no ar para o treino indispensável. A princípio, o carocinho conduzia-se com certa insubmissão e impaciência, ora desaparecendo pelas moitas, escapulindo entre os dedos. Escondia-se.
Não esquecerá a manhã em que a Minu o ajudara a procura-lo, farejando aqui e ali, até que o trouxe na boca. Teve que lavá-lo e o seu agradecimento naquela hora foi mandar, asperamente, a cadela para dentro.
Outros caroços, bilros de almofada, bolas de gude, tucumã verde ou inteiro, Lucíola lhe dava como se quisesse intrometer-se naquela tão solitária magia. Ele repelia os presentes. Escolhendo o caroço do chão, ai, sim.
[148] Foi numa hora assim que se viu surpreendido por uma menina de pé no chão, pertinho dele, fitando-o.
Apanhado em flagrante, muito pálido, o beiço tremeu, recolheu rapidamente o carocinho e perguntou, rouco:
— Que é? Nunca Viu?
A menina que viera pela vala, ainda com os pés na lama, continuou a fitá-lo, silenciosa, com curiosidade e malícia tais, que Alfredo baixou a vista, confuso. A garota subiu a pontezinha e pediu que lhe tirasse a sanguessuga da perna. Ele fez com a cabeça que não. Ela insistiu. Era conhecido o asco e temor de Alfredo pelas sanguessugas. A menina, então, com um muxoxo, espichou a perna e de um puxão arrancou a sanguessuga da pele. Alfredo viu a gotinha de sangue diluir-se entre os salpicos de lama na perna da desconhecida que agora voltava a olhá-lo.
— Não me conhece? Não se lembra mais de mim?
Alfredo via-lhe o rostinho queimado, de 11 anos, e um precoce olhar, de areia gulosa, em que as coisas e as pessoas tombavam e desapareciam. Depois, como ele se recusasse a falar e a olhá-la, passou ela a fazer uma porção de gatimônias. Abriu a boca, mostrava a língua, até que se curvou numa risada e começou a pular na pontezinha, saltando nas duas tábuas soltas, obrigando Alfredo a segurar-se no seu trilho amigo.
Estaria cerro de que ela não saltara do carocinho? A força de anta imaginação, não poderia aparecer visão como essa da menina que trazia um demônio no corpo e aquele olhar que engolia tudo? Vinha por certo daquele vale onde as meninas do Cícero Câmara brincavam.
A menina por fim aquietou-se um pouco, dependurando as pernas sobre a vala. Num tom ora meigo, ora desdenhosa, falou:
— Mas tu então não me conhece? Quando eu vim na tua casa, faz muito tempo. Tu te lembra? Estavas cego. Não me viste. Por isso tu não te lembra. Fui-me embora pra essas fazendas daí de cima. Agora voltei pra morar de vez em Cachoeira com um meu tio. Não tenho pai nem mãe. Morreram. Mataram meu pai. li um irmão morrer. O outro, deste tamanho assim, levaram. Algum irmão teu já morreu? E tu, nunca saíste daqui? Se não me [149] engano, ouvi naquele dia tua mãe dizer que tu ias estudar, ias embora. Não foste? Tua mãe mentiu, não? Era pra que ficasses bom logo dos olhos, deixar fazer o curativo, não era? E bem... Tinhas um pano preto nos olhos. Fiquei pensando que teus olhos fossem dois buracos, que tinham só matéria dentro. Agora vejo que não és cego.
E avançando o rosto para ele, exclamou:
— Cego, te lembra de mim. Cego. Sou a Andreza, cego. Ele ficou de pé e resmungou, confusamente:
— Minha mãe nunca mentiu...
Calou-se, ainda mais atrapalhado.
Ela sentada estava, sentada ficou. Apenas derreou a cabeça, apoiando-se nas mãos sobre a pontezinha, a olhar para ele que continuava de pé. A areia gulosa do olhar o atraía e sugava. Alfredo rendeu-se e voltou a sentar. Ficaram em silêncio, de costas voltadas um para o outro, como inimigos, mas nunca daí em diante
Apanhado em flagrante, muito pálido, o beiço tremeu, recolheu rapidamente o carocinho e perguntou, rouco:
— Que é? Nunca Viu?
A menina que viera pela vala, ainda com os pés na lama, continuou a fitá-lo, silenciosa, com curiosidade e malícia tais, que Alfredo baixou a vista, confuso. A garota subiu a pontezinha e pediu que lhe tirasse a sanguessuga da perna. Ele fez com a cabeça que não. Ela insistiu. Era conhecido o asco e temor de Alfredo pelas sanguessugas. A menina, então, com um muxoxo, espichou a perna e de um puxão arrancou a sanguessuga da pele. Alfredo viu a gotinha de sangue diluir-se entre os salpicos de lama na perna da desconhecida que agora voltava a olhá-lo.
— Não me conhece? Não se lembra mais de mim?
Alfredo via-lhe o rostinho queimado, de 11 anos, e um precoce olhar, de areia gulosa, em que as coisas e as pessoas tombavam e desapareciam. Depois, como ele se recusasse a falar e a olhá-la, passou ela a fazer uma porção de gatimônias. Abriu a boca, mostrava a língua, até que se curvou numa risada e começou a pular na pontezinha, saltando nas duas tábuas soltas, obrigando Alfredo a segurar-se no seu trilho amigo.
Estaria cerro de que ela não saltara do carocinho? A força de anta imaginação, não poderia aparecer visão como essa da menina que trazia um demônio no corpo e aquele olhar que engolia tudo? Vinha por certo daquele vale onde as meninas do Cícero Câmara brincavam.
A menina por fim aquietou-se um pouco, dependurando as pernas sobre a vala. Num tom ora meigo, ora desdenhosa, falou:
— Mas tu então não me conhece? Quando eu vim na tua casa, faz muito tempo. Tu te lembra? Estavas cego. Não me viste. Por isso tu não te lembra. Fui-me embora pra essas fazendas daí de cima. Agora voltei pra morar de vez em Cachoeira com um meu tio. Não tenho pai nem mãe. Morreram. Mataram meu pai. li um irmão morrer. O outro, deste tamanho assim, levaram. Algum irmão teu já morreu? E tu, nunca saíste daqui? Se não me [149] engano, ouvi naquele dia tua mãe dizer que tu ias estudar, ias embora. Não foste? Tua mãe mentiu, não? Era pra que ficasses bom logo dos olhos, deixar fazer o curativo, não era? E bem... Tinhas um pano preto nos olhos. Fiquei pensando que teus olhos fossem dois buracos, que tinham só matéria dentro. Agora vejo que não és cego.
E avançando o rosto para ele, exclamou:
— Cego, te lembra de mim. Cego. Sou a Andreza, cego. Ele ficou de pé e resmungou, confusamente:
— Minha mãe nunca mentiu...
Calou-se, ainda mais atrapalhado.
Ela sentada estava, sentada ficou. Apenas derreou a cabeça, apoiando-se nas mãos sobre a pontezinha, a olhar para ele que continuava de pé. A areia gulosa do olhar o atraía e sugava. Alfredo rendeu-se e voltou a sentar. Ficaram em silêncio, de costas voltadas um para o outro, como inimigos, mas nunca daí em diante
[150]
4
Ao sacudir à janela a toalha ainda do café da manhã, d. Amélia exclamou:
— O quê? Hein, Rodolfo? Seu Alberto já vem da Intendência? Então já é onze e meia, meu Deus?
O tipógrafo não levantou o olhar nem parou os dedos que iam e vinham dos caixotins de tipos para o componedor na mão esquerda que tremia. Gaguejou qualquer coisa, compondo a palavra “infração” para as novas posturas municipais redigidas pelo Major. Alfredo surgia na varanda, com uma espiga de milho meio debulhada, indagando o que era, o que era... Correu à saleta. O velho despertador marcava dez e quinze.
— Mas esse aí não está regulando mais, meu filho. Caducou de uma vez. E se está regulando, que aconteceu pro seu Alberto já voltar a estas horas? Repara na sombra da parede da casa do coronel Bernardo. Eh, ainda não chegou na calçada... Só se o sol mudou de posição. E se for mesmo onze e meia, estou é frita. Tudo cru, nem a lenha pegou.
Quando o Major atravessou a pontezinha, paletó escuro, a gravata de elástico, as calças claras, o chapelinho de massa bem usado, a bengala castanha e mansa, d. Amélia disse baixo:
— Mas eh... Seu Alberto vem vermelho, uma brasa. Que então já foi? Deu-se coisa.
Ele foi varando para o quarto onde se abateu com paletó e chapéu, vermelhíssimo, na rede, dando um colérico impulso para o embalo. O chapéu rolou no soalho e Mariinha apanhou, perguntando ao pai se estava com muita febre.
[151] Na varanda, Alfredo, com a espiga na mão, olhava para a mãe. Esta, calada, parecia refletir, O desentendimento crescente entre os dois não permitia mais que ela fosse logo perguntar o que acontecera. Teria sabido coisa dela? Quanto à noite de São Marçal, dissera-lhe sem detalhes o que fez a uma das Gouveias. E o Major, que vinha se mantendo arredio, sem intimidades para não encorajá-la a novos excessos, não desejava se abrir com ela, como nos bons tempos.
Ouvia-se o embalo rápido da rede e o tactac agora muito lento do componedor de Rodolfo que fingia muita atenção ao seu trabalho. E como no quintal o porco passasse a grunhir alto, d. Amélia mandou o filho terminar a debulha e levar a ração ao chiqueiro.
O menino entrou na despensa, emburrado. Principiou a debulhar menos o milho que a curiosidade. Que acontecera com o pai? Não resistiu e voltou à varanda, surpreendendo Rodolfo de ouvido inclinado para a banda do quarto onde d. Amélia e o Major já conversavam. Alfredo alegremente aproximou-se da porta. E pôde ouvir:
— ... Seis contos e quatrocentos. Dinheiro para despesas eleitorais em Belém. Sem comprovante, sem nada. E quis que eu colocasse nas despesas aqui. Enfim, que eu forjasse recibos, justificasse a saída. Lima verdadeira conta de chegar. Aí...
Alfredo interrompeu a escuta porque fora surpreendido pelo tipógrafo que o fitava, piscando olho e o faro agudo na conversa. O menino franziu a cara. Rodolfo voltou ao componedor.
— ... ficou vemelhão. E eu repeti que a responsabilidade viria cair nas minhas costas. O sr. é um homem rico, deixa isso aqui e passará amanhã de largo no “Bicho” como um homem muito honrado. Coitado, dirão, poderia fazer um bom governo, mas seus auxiliares roubavam... O secretário que se veja na boca de todo o mundo.
Major deu novo embalo.
— ... “Major”, disse ele, o “sr. não está compreendendo”. Não quero absolutamente colocá-lo mal. Longe disto. Afinal é uma rotina...” Aí, psiu, viu? respondia: rotina de não prestar contas do [152] dinheiro público? De fazer contas de chegar? O dr. confunde as contas de suas fazendas com as da Intendência. Está muito certo, mas no fim quem responde amanhã? O sr.? Ele resmungou: “Afinal, Major...” E como eu visse até onde ele ia, cortei logo: sim, dr. Bezerra, afinal o intendente é o sr. Isto quer dizer: porta da rua, serventia da casa. Aqui isto se parece com uma corte. Quando o rei não está satisfeito com o primeiro-ministro, basta escolher outro. O rei reina e governa.
Alfredo ficou gelado. Seu pai não seria mais o secretário da Intendência Municipal? Foi como um começo de pânico interior. Era a partida para o sítio, e adeus para sempre, Belém. Seguiu-se um movimento de orgulho pelo pai. Enfrentara aquele branco, o intendente, que era recebido pelo governador do Estado e passeava na Inglaterra. E por último chegava a compreender que o velho poderia ter cedido, pois, naquelas semanas o chalé passara por grandes dificuldades que Alfredo tratava de esconder sempre aos olhos dos moleques, quando estes vinham pedir comida. Preferia ser mau com eles, dizer-lhes que sua mãe não lhes queria dar mais nada, a dizer que não havia farinha no chalé. Escondia essa situação a Andreza sempre de olho vivo em tudo. Explicava a esta que o café com bolachas na hora do jantar era desejo de seu pai, de todos no chalé, não por falta de comida. E ele que achava impossível o que acontecia com aqueles pobres da rua de baixo, onde não havia pão, nem carne, nem açúcar durante dias! Os empregados da Intendência para o açougue e para a taberna. A carne para o chalé. Alfredo trazia do mercado, era fiada e os vales se acumulavam na mão do açougueiro. Este, por isto, lhe custava aviar e não cortava o crédito porque o Major era o secretário, O primeiro-ministro. Também dinheiro não via, durante semanas, no chalé. Nem uma nota de dois mil-réis. Recordava-se daquela tarde. Um canoeiro de Igarapé-Miri vindo de Lago, queria uma palavra com o Major sobre o despacho de sua embarcação carregada de carne de capivara, dois bois velhos, peixe seco. Quando o canoeiro se despediu, major Alberto, com uma alegria infantil e trinta mil-réis na mão, foi na cozinha onde d. Amélia preparava mingau de arroz como jantar. Era uma cobrança de imposto e [153] Major decidira ficar com aquele dinheirinho porque há dois meses não recebia seu ordenado. Explicava que os embarques de gado, seu imposto de exportação era a receita da Intendência, começariam em setembro. Os trinta mil-réis do canoeiro caiam do céu para as necessidades do chalé. No entanto, mandou chamar Didico, o porteiro, para dar-lhe um vale de dez mil-réis. Coincidiu naquela noite que o filho da nhá Porcina trouxera para a madrinha um pato brabo morto noutro lado do rio. A mesa foi posta tarde no chalé, mas jantaram.
Major, depois daquele silêncio em que d. Amélia sentada na mala grande, continuava a refletir, descreveu a confusão do intendente, de um lado a outro, corado, a mão na calva.
— Botei o chapéu na cabeça, disse o Major levantando-se da rede e tirando o paletó, e falei. Entro e saio, dr. com as mãos abanando e é o que me basta.
Desta vez, Alfredo esqueceu a explosão de dignidade do pai para pensar unicamente no sítio para onde iria, metido em matagais e coqueiros tombando na maré. Seu pai, com efeito, dizia sempre: livrem-se de minha explosão.
Também explodia por causa de tudo... Esse esboço de restrição ao pai ficou um tanto obscuro em seu espírito. Um desespero subiu-lhe pela garganta, vontade de pedir explicação ao pai, atirar pedras no intendente. E logo sua esperança se voltava para a mãe que deveria fazer objeções, não sabia quais fossem, mas o essencial era salvá-lo do igarapé Puca distante da vila umas dez horas de remo.
D. Amélia saiu do quarto, cantarolando, como se nada acontecesse, à semelhança daqueles dias normais do chalé em que sabia dominar-se, ver as coisas com firmeza e aparente distração. No íntimo, estava um pouco estonteada, no meio disso um fio de remorso correndo-lhe, infiltrando-lhe um miúdo sentimento de culpa, certas reservas acerca da atitude do seu Alberto (teria sido justo?) e tudo girando agora em torno da viagem do filho. Viu também dentro da lama o barracão no Puca onde os filhos aprenderiam unicamente a morrer de verminose.
Major Alberto enfiou a velha camisa de tipógrafo e veio [154] andando com um sorriso, a vermelhidão se apagara, havia uma satisfação em seus olhos que se tornavam muito azuis. Ia descrever novos detalhes do incidente quando d. Amélia se voltou e falou com uma convicção que fez Alfredo abrir os olhos de espanto:
— E. Fez bem. Pensam que tudo podem fazer e acontecer... Depois quem muito se abaixa...
E olhou para o filho que se encostara na parede.
Major Alberto fez uma pirueta, curvando-se, e de costas para d. Amélia concluiu o ditado com esse movimento. Alfredo, então, riu curto e nervosamente, seguido de Mariinha que queria, porque queria, montar nas costas do pai e galopar pela varanda.
Major Alberto abriu a estante, apanhou a sua fotografia tirada aos 46 anos. Rosto cheio, bigodes empinados, o olhar de candidato a intendente de Muaná. E murmurou: E, meu velhote. Não tem outro remédio. E agora fazer sabão, foguetes, arranjar encomendas para a tipografia e como? Devolver o prelo grande, as caixas novas de tipos. O Puca me espera. Saberei ao menos beber água de coco. E que se arranjem, que se arranjem.
Estava ainda sob o bem-estar do duplo desabafo: havia explodido com o intendente e contado a explosão a d. Amélia. Guardou a fotografia para ouvir da companheira:
— Seu Alberto, você não conhece bem esses homens. Aposto que ele esteve lhe experimentando. Aposto que ele... hum! E quem ele acha agora para secretário, assim num átimo? Um homem como você que só falta varrer a Intendência... Hum...
E virava na mão o pedaço de carne para o bife.
Às duas horas da tarde seguinte, cismava Alfredo na pontezinha, quando um homem alto, todo de branco, perneiras, chapéu colonial, saiu da Intendência e veio vindo, passando pela casa do Salu, beirando rente à cerca da padaria velha para evitar a lama da rua, até que parou na ponta do aterro, defronte do chalé. Tirou o chapéu e enxugou com o lenço grande, branco e bem engomado, o lustre da calva, o pescoço e a testa. E com maior surpresa [155] do menino, o homem encaminhou-se para a Folha Miúda, abanando-se com o chapéu como se quisesse enxotar o sol que lhe assava a larga calva reluzente. Deteve-se à sombra da árvore ao cabo de instantes acenou para o menino, chamando-o. Este cochichou: Bolas, não passou por aqui? E não se moveu. Os acenos continuaram com o chapéu que pareceu enorme, de fundo esverdeado. Alfredo foi.
— Está brincando?
Alfredo não respondeu, entre prevenido e tímido.
— Você me conhece?
— Não, mentiu o menino.
— Não me conhece? Nunca me Viu?
— Não.
— Pois eu conheço você. Sei o seu nome. Conheço seus pais.
Aqui Alfredo sentiu-se um pouco envaidecido; afinal, aquele homem o conhecia, sabia o seu nome, não dizia apenas “conheço Leu pai”, esquecendo o nome de sua mãe e sim, “conheço seus pais”. Conhecera os filhos dele, de passagem na “Bicho” para as fazendas, mas tão brancos! Roupas de casimira, os joelhos muito alvos que nunca tivessem tocado o chão. Pela primeira vez conhecera meninos ricos. Viu-os de longe, sem trocar uma palavra com eles, como se os visse através de uma vidraça.
O intendente, que se calara, andando à sombra da árvore, voltou a falar com o menino que se dispunha a fugir:
— Conhece o major Alberto?
— Meu pai.
— Ah, seu pai. Então eu não me havia enganado. Meus cumprimentos por ser filho de um homem de bem. Orgulho-me de ser seu amigo e dele ser o meu secretário. O meu primeiro-ministro. Sabe o que é primeiro-ministro? Pergunte a seu pai. E me faça um grande favor, ouviu? De me levar este recado: que estou esperando ele aqui conforme combinamos anteontem. Espere, tome...
Alfredo afastou-se, viu a cédula nova enfiada entre os dedos do intendente e hesitou. Quanto? Cinco? Dez? O intendente estendeu-a, acenando com a cabeça que aceitasse. Mas o menino correu para o chalé.
[156] — Quem que marcou encontro com esse... eu? E um maluco e onde está ele?
Alfredo arquejava um pouco por causa da carreira e uma onda de sangue subiu peio rosto do pai, onda de orgulho, suficiência, surpresa, talvez triunfo.
— Está maluco. Que se arranje. Já sentiu a minha falta esta manhã? Um malucão.
Foi à janela e viu o intendente, de pé, à sombra da árvore, contemplando o rio.
Voltou-se para o menino.
— Repita o que foi que ele falou.
Alfredo repetia o recado com ênfase o que desta vez foi ouvido por d. Amélia.
— Não lhe disse, seu Alberto?
— Veremos. Veremos.
Ela acrescentou que não saísse como estava, pusesse o paleta sem gravata. Dividiriam a dignidade ao meio, a árvore era a fronteira e d. Amélia ria, por antecipação, da cena que iria apreciar.
Major, de um lado a outro, descalço, esticando as pontas da camisa de fora, resistia ainda, ou fingia resistir para se tornar mais precioso diante do intendente e do chalé. Teve, de súbito, um repelão de orgulho: queria que o menino fosse chamá-lo. Viesse ao chalé.
D. Amélia considerou que era uma grosseria da parte dele. Se o intendente lhe havia ouvido os desaforos na Intendência e chegara até ali na Folha Miúda, bem defronte do chalé, não seria nada demais que o secretário, o primeiro-ministro, vencesse aquela pequena distância, tão favorável para ele. Alfredo engolia receios de que o intendente poderia ter mandado chamar o pai para uma satisfação sabia lá com que conseqüências públicas e d. Amélia trouxe os sapatos do Major.
Este, antes de calçá-los, assomou à janela. O intendente voltado para o chalé logo acenou-lhe com o chapéu, com as mãos, gritando cordialmente:
— Major, uma palavrinha. Uma só.
[157] Dr. Bezerra estava impaciente e vexado. Mas era preciso ir até àquela árvore e pedir a entrevista.
Em Belém, entre os amigos, até mesmo em Palácio, falando com o governador, ou na estrada de Nazaré, na casa do senador Cipriano, chefe do Partido, dr. Bezerra exibia a honradez de seu secretario como uma conquista, uma propriedade sua, um merecimento a mais na família Bezerra. No fundo, uma espécie de compensação ao que não tinha ou perdera, estava quase consciente disso. Também fazia supor que o Major era criação sua, fruto de seus conselhos, de sua arte de administrar e politicar. Não queria ele, Bezerra, em sua Intendência cada coisa no seu devido lugar?...
Embora reconhecesse que não chegava a ser tão desonesto como alguns supunham, nunca mandara surrar vaqueiros, furtar gado, matar pescadores, quebrar urnas eleitorais. Tudo isso, é verdade, havia sido feito pelo pai, de quem herdara a fortuna, sim, mas não as origens dela. Por que, então, não merecer um secretário de ouro como aquele? Homenageava-se a si mesmo, exaltando a honestidade do Major, como se esta fosse a sua verdadeira obra administrativa.
— Um homem competente, honrado, mas algumas vezes malcriado.
Ah, as malcriações do secretário que a sua tolerância, seus princípios liberais, sabia apreciar e estimular! E disso falava também nas reuniões da família ou distantes encontros com brasileiros numa clínica suíça, como se falasse de preciosa peça indígena de que nunca abriria mão.
Agora, o intendente não queria tornar claro em seu pensamento que a decisão de procurar o secretário era pura e simplesmente porque tinha necessidade do Major. Não, não queria dizer isso, nem mesmo pensar. Era a sua liberalidade atendendo ao impulso do Major que logo não compreendeu aquela questão de cibos. E depois, um nonada, duas pessoas de bem saberiam entender-se. Major fora agressivo. Confundir a Intendência com as fazendas... Teria de ceder, sim, porque... No mais, era aquela amizade ao Major, sim, o desejo de vê-lo sem dificuldades a [158] sustentar duas famílias, a sua companhia inteligente, aquele hábito de voltar da Europa, de Belém, dos luxos da família e encontrar o Majorzinho na Secretaria, tão assíduo e tão probo.
Dr. Bezerra, à sombra da Folha Miúda, olhou em torno, pensou que poderia mandar fazer ali defronte do chalé, beirando o rio, um jardim público. Era necessário aterrar. Ah, se pudesse mandar buscar um engenheiro holandês.
Alfredo deitado na pontezinha e d. Amélia à janela entreaberta, ficaram espiando a cena em que o intendente abraçou o secretário, gesticulou risonhamente e instantes depois deixaram a sombra da árvore. O dr. Bezerra passara o braço pelas costas do Major que sorria, encabulado, tentando cobrir a cabeça com a mão tão alva contra o sol.
D. Amélia ria abafadamente e recuou da janela, agora surpreendida e assustada, porque os dois se dirigiam para o chalé. Desarmou afobada a rede da saleta, ajeitou as três cadeiras, enxotou a Minu, fez Mariinha apanhar as revistas e sapatos espalhados, correndo para a cozinha a fim de pôr a chaleira no fogo, mandando Alfredo, às pressas, emprestar uma colher de café em pó na casa de Lucíola.
Para Alfredo foi como a recuperação do chalé, de Cachoeira, lo campo, do rio por onde partiria.
À beira do poço, derramou o primeiro balde d’água na cabeça, fechando os olhos, na delícia da breve sufocação, encolhendo-se, todo arrepiado com o friúme do banho. Pulou em torno, nu ensopado, assobiando, a água tinha um gosto de tabatinga. Fechou os olhos com as mãos e os abriu para ver que a tarde era ,ela, uma tarde de julho.
Seu olhar alcançou dali as barracas da rua de baixo, logo o fundo dos campos, depois a Estação de Monta, as cercas e verduras da vila. Alegremente desejou visitar Lucíola, reconciliar-se com [159] Andreza com quem brigara na véspera e soltar em sua companhia o barquinho do Didico na lagoa.
Lançou novamente o balde dentro do poço e ficou debruçado, puxando-o pela corda crespa, tentando enchê-lo. Lá do fundo, onde boiava o muçu, subiu a recordação de Irene. Nunca, nunca mais ouvira falar dela. Voltou-se para o quintal, querendo enxotar essa lembrança ligada a uma época infeliz do chalé de que provavelmente sua mãe sofria as conseqüências. E sua imaginação, mais forte que a vontade, fez crescer os passos de Irene sobre Cachoeira, pejada como uma nuvem de chuva.
Imprecisamente comparou-a a uma daquelas figuras vistas no livro da mitologia. Esquecera o nome das figuras, por certo que nem a professora sabia de cor. Mas uma palavra lhe ficou e que explicaria tudo: Deusas. Mulheres de Deus? Havia no tempo antigo muitos deuses. E agora por que um deus só? Já não observara, uma vez, que seu exame de consciência hesitava entre três deuses, o de sua mãe, o de Lucíola e o de seu pai? Até agora não pudera fundi-los num só deus nem reconciliá-los, O livro da mitologia não só falava de muitos deuses como também das deusas, mulheres deles. Andava nos bosques e nos campos, talvez não gostassem dos altares. Só Irene comparava-se a elas. Clara não, porque ria, remava, falava, comia frutas, morreu. Irene era aquele silêncio de sempre em que a gravidez parecia lhe ter tirado a voz e os movimentos, enfim tornando-a deusa. Deusa e grávida, atravessava os campos e derramava de seus cabelos à noite sobre a vila.
Corre nu pelo quintal, contente com o ingazeiro, o mamoeiro de vida tão curta, a goiabeira mirrada no chão de tabatinga, o tamarindeiro de tamarindos mais azedos do mundo que lhe faziam lembrar os dentes de Clara escorrendo resina. E com maior alegria foi encontrar-se com a sua mãe em direção do chiqueiro e que “léco, léco, léco” chamava o porco. A ração que ela ia despejando no cocho cheirava como comida de gente.
— Meu filho, que banho é esse? De andar correndo nu? Já um tamanho homem.
— Tamanho homem, mamãe?
[160] Ele queria explicar: Papai não sai mais da Intendência... Não vou para o sítio onde Mariinha poderia morrer. Daqui só posso ir para o colégio. Estou vendo o rio, vendo embarcações passarem, numa delas partirei.
Mas nada disse e tão alegre estava que lhe perguntou se não queria regar o canteiro do caruru e couve, carregaria tantos baldes que quisesse. E passava a repetir bem alto “léco, léco, léco” chamando porcos invisíveis que fugiam pelo quintal, chamando o dr. Campos, de orelha cortada, chamando as árvores do cercado que lhe pareciam escutar, a Minu que agora o acompanhava, as estrelas meio acordando com o barulho, piscando, tontas ainda da longa e morna sesta do dia.
Logo depois do jantar, saiu correndo para a casa de Lucíola, que o recebeu como a um filho pródigo.
— E olhe que adivinhou. Tenho aqui duas entradas para o teatrinho que estreou ontem. Você já deve saber. Disque vindo de Belém. Você quer ir? Vamos. Não custa eu me preparar.
— Vou correndo pedir pra mamãe.
— Não, não, eu grito daqui da janela do lado pro chalé.
Alfredo consentiu. Se Lucíola quisesse beijá-lo, sentá-lo no colo, deixaria. Ouvia com deleite o grito de Lucíola:
— D. Amélia, d. Amélia, d. Amélia...
Nenhuma resposta do chalé. Lucíola chamou novamente. Responderam. Uma voz indistinta.
— D. Amélia, Fredinho vai comigo no teatro.
A voz da mãe do outro lado vinha vindo contra o vento que os longes sopravam sobre o chalé. Os dois custavam a saber se ela permitia ou não. Para Lucíola, bastaria apenas avisá-la. Alfredo hesitava. Por fim, d. Amélia falou de novo, podia ir, sim. Alfredo ouviu a voz distante que o vento depurava, tornando-a mais maternal, saudosa e tranqüila, também feliz, enchendo o seu coração.
[161] Alvoroçada, Lucíola voltou do quarto já com o seu melhor vestido, de gorgurão branco, quando Dadá, que chegara da casa de Salu, com um monte de folhetins, reclamou grosseiramente:
— Minha entrada, Lucíola. Não sabias que eu ia?
Desapontado, Alfredo apressou-se a devolver-lhe as entradas se dirigiu para a porta. Lucíola, aflita, o deteve, olhando para Dadá numa voz de censura mal contida:
— Tu vais com ele, Dadá. A entrada dele é a minha. Não precisa tudo isso...
— Eu, hein! Sei ir só. Nem quero saber disso. Toma.
As entradas caíram no soalho. Lucíola apanhou-as sob as exclamações da irmã:
— Essa tua mania vai acabar mal, muito mal. Em troca, só recebes é pontapés. Depois não quero perder meu tempo em ver uma baboseira daquela. Vi muito teatro, o senhor teatro em Belém. Tu bem sabes, Lucíola, que minha mãe vestiu muita artista de Portugal no Teatro da Paz.
Falava alto, para que Alfredo se doesse e ao mesmo tempo desesperada, porque depois da morte da mãe não pudera nunca mais ir a Belém. Se desabafava contra o menino, contra Lucíola, contra o espetáculo. Revia as noites da cidade quando entrava no Teatro da Paz, deslumbrada com a iluminação, os chapéus das senhoras nos camarotes, os leques e os binóculos, as costas nuas das moças nas poltronas, o luxo dos cenários, o alinho dos cavalheiros, a declamação dos artistas no palco. Pôs-se a chorar devagarinho como uma menina, repetindo “baboseira, baboseira”, o que fez Lucíola volver-se para ela, o rosto no punho da rede da irmã, sem saber o que falar.
Alfredo estava de bom humor naquela noite e a sua felicidade confundia-se com a ausência de amor próprio. Que Dadá chorasse. Onde estaria Andreza? Se ela o visse entrando no teatro, seria ótimo. Gostaria de ver os gulosos olhos dela cheios de inveja. Com es entradas no bolsinho da calça, tornou-se impaciente, como se já estivesse com aquilo fazendo uma homenagem a Lucíola. Ia ou não ia?
[162] No entanto, novo obstáculo, Didico chegara, pedindo jantar. Lucíola intimamente praguejou contra o irmão. Pois então vinha das casas de suas excelentíssimas raparigas, uma, duas, três, espalhadas em Cachoeira, e não lhe davam jantar? Pôs um avental e segredou ao menino que “não demorava”.
Foi o tempo necessário para Alfredo acariciar o pé de cravo que ela plantara em nome dele no jirau das plantas junto à janela lo lado. Andou pelo corredor onde se penduravam, na parede, vários objetos tão inúteis quanto necessários a uma casa velha, apetrechos do boi-bumbá, restos de vestimenta de Didico quando brincava de vaqueiro real, uma maçaneta de bombo, o pistão recurvo azinhavrado, folhas de almanaques e anzóis, a tanga de índio, i cabeleira da filha do coronel do “Caprichoso”, um pedaço do rapa da França.
Observou o estado da casa velha. Como que nascera assim, á velha e inacabada especialmente para Lucíola, com o seu ar de caruncho, a porta e a janela da frente de parede rachada e encardida que, à noite, lembrava o rosto da moça. Na sala, o forro havia ;ido desmanchado porque ameaçava ruir, os cartões postais, colá-los à parede extinguiam-se, ou deles fugiam os panoramas e as pessoas. O S. Sebastião da estampa, com apoio na mesa, onde folhetos de modinhas e cadernos de música cobriam o violão do Didico, ostentava o seu martírio. Só na sombra, S. Expedito tinha para o menino uns jovens olhos compassivos em que se refletia talvez o olhar antigo de Lucíola, a súplica de suas orações, o segredo de sua vida. E sobre o santo, enroscada no esteio da cumeeira, dormia a jibóia, cria de Didico, para caçar os ratos.
A casa velha parecia arquear-se cada vez mais com aquele quarto escuro onde Dadá sufocava os soluços no lençol e aquela sala de anta com o fogão a um canto, junto do qual havia o poleiro das ;alinhas, a tarrafa estendida, jazia a almofada de renda e uma velha talha que guardava enfeites do “boi”, o barquinho de pau já sem vela, sabugos de milho e um feixe de penas de guará. Era essa a casa, guardada por uma jibóia, onde Alfredo passou muitos dias de sua primeira infância e inspirou a Lucíola tão estranho sentimento maternal.
[163] — Vamos. Está na hora.
Alfredo descobriu que o penteado de Lucíola era perfeito. Na rua, teve a impressão de que ia ao teatro em companhia de uma linda moça metida naquele gorgurão tão vistoso.
— E então queda que me trouxe mais os cadernos. Você me disse que logo que enchesse os cadernos da escola e não servissem mais, me trazia pra mim guardar.
— Ah...
Ela gracejou:
— Tu chegaste, tu vieste, tu deste.
Alfredo compreendeu: queria dizer que uma pessoa não cumpriu o prometido.
Chegaram à casa de Lili, onde se instalava o teatro. A entrada, o farol de carbureto entre os velhos e manchados cartazes, constantemente apagava.
Na sala de jantar onde se realizaria o espetáculo, Alfredo viu ó palco aos fundos que lhe lembrava um pouco o altar da capelinha do seu Bibi Gonçalves. Reconheceu, misturadas e em fila, cadeiras da Intendência, o sofá do promotor, bancos da Delegacia, mochos de pele de jacaré da d. Violante. Junto à parede, uma cadeira de embalo como se fosse um camarote.
Conseguiram a custo dois lugares juntos. Ao lado do palco, Lili, uma morena roxa, agora alva de pó de arroz, se derretia toda para um estrangeiro alto, de cabeleira ruiva, o rosto pintado como uma mulher. Lucíola fez um muxoxo de desaprovação e desprezo. Lili exibia a vaidade de filha do dono da casa onde funcionava o teatro. O pai, o seu Brito, barbeiro e suplente de juiz substituto, outrora criador de gado, vítima dos Menezes, conservava aquela residência como se estivesse enterrada ali a fortuna perdida. Ainda havia vidraças nas janelas, forro na sala, reboco nas paredes, vestígios de pintura e bicos de carbureto. Apenas no corredor o tabuado cedia e o portão sob um pequeno alpendre desconjuntava-se sobre a calçada de tijolos partidos e onde os presos na faxina da capinação gostavam de amolar os seus terçados [164] e foices. Lili exagerava diante dos assistentes a sua intimidade com o pessoal da companhia, o seu conhecimento acerca dos preparativos do espetáculo, com uma suficiência que irritou meia casa.
Os rapazes dando-se a ares de cidade, batiam os pés no soalho, reclamando o início da função. Representavam ali também o papel de espectadores. Nesse instante, entrou na sala um periquito que voara da cozinha, arisco e arrepiado. Alguém falou alto que era o primeiro número da companhia. Lili ao apanhá-lo, excitada e encabulada quase o esmagou soltando-o no colo da mãe. Enquanto isso, sucedia um começo de discussão à porta da casa. Seu Brito acorreu com a filha atrás. Parentes de seu Brito, trazendo cadeiras e banquinhos, exigiam entrada de graça. Lili coçava a cabeça, falava ao pai, ao mesmo tempo olhava-se no espelhinho que trazia embrulhado no lenço. Por fim, seu Brito, calmo, a mão na gravata, fez os parentes rodearem o quintal e entrarem pela porta da cozinha de fundos para o rio. A sua mulher, as crias de casa e a parentada apertavam-se no corredor e à porta do primeiro quarto, espiando como se estivessem no sereno. Lili atirava uma flor por cima da platéia para o artista de cabeleira ruiva.
Alfredo recolheu-se numa expectativa em que vinham as lembranças do tenor Frontino pedindo, depois da audição, um escalda-pés no chalé, conversas do pai sobre óperas e companhias portuguesas, pastorinhas, cordões joaninos e circos descritos pelo Bibiano Coimbra, o canoeiro. Ouviu-se uma pancada. O primeiro sinal. Espectadores reclamaram a ausência da orquestra.
Lucíola fingia naturalidade, exibindo aquele “filho”, mais curiosa dele que do espetáculo. Como estava crescendo. Que feições de moreno delicadas. Sorria menos pelos lábios que pelos olhos. Os cabelos não puxavam o pixaim da mãe, mas o cabelo do pai.
A segunda pancada.
A terceira.
O pano subindo, lento, com dificuldade, rangendo, até que apareceram umas cortinas desbotadas, o fundo azul, o teto de papel. A cena, um homem jurava matar o amante de sua mulher. Derramou longo recitativo que o ponto ia soprando e isto fez os espectadores da primeira fila reclamarem:
[165] — Por que não decorou o papel? Assim também até eu. Até um de nos.
— Cala boca. Nunca viu teatro, seu burro? Isso aí é o ponto, ignorante.
— Ignorante se fosse criado na casa de teu pai, Belarmino. Tu estás acostumado a ver teatro é na proa da montaria, tarrafeando.
— Aprende que isso aí é o ponto. Me paga depois o mata-bicho pela lição.
O ator esperou silêncio para continuar. Por fim, surgiu o amante; violento diálogo, tiros, o amante cai e se ouviu um aparte da platéia dizendo que o tiro era de pólvora seca.
— Queria ver era o tiro de verdade. Bala.
E desceu o pano.
Houve um movimento à porta da entrada, era a música que chegava, enfim. Luiz Peru, fumo no braço, a flauta e os papéis de música debaixo do sovaco, tentava ajeitar os óculos, suando de impaciência e de atraso. Houve uma salva de palmas e assobios esparsos. A orquestra, que se colocou nos bancos da frente, fez uma abertura de afinações e rompeu a marcha, a invariável marcha com que Luiz Peru começava os bailes, tocava nas festas cívicas e jantares de aniversario. A seguir um choro e o pano desta vez subiu rapidamente para o número do mágico, justamente o estrangeiro ruivo, que falava com Lili, de quem recebeu a flor. De saída, engoliu quantidades de fogo.
Alfredo viu, surpreendido, a cartola alta, negra e lustrosa, do magico. Dela voaram pombas brancas, metros e metros de fitas, cartas de jogar, um vestido de Lili, um véu longo de gaze, uma touca de criança. O ruivo, rosto pintado, voz grossa e sonora trabalhava com máxima superioridade e desdém sobre a platéia, o olhar de cima, mágico por inteiro.
Finalmente, sob palmas, para o efeito cívico, tirou da cartola uma Bandeira do Brasil, emprestada da Intendência, a nova, que só era hasteada em feriados excepcionais.
O outro número dos cômicos divertiu a platéia pelo apimentado das pilhérias. Lucíola, sufocando o riso, resmungava “sem-vergonha”, um tanto embaraçada. Alfredo estava, afinal, [166] escutando aquelas inconveniências. No número da pedra sobre o peito do homem montanha, a platéia admirou a novidade. Com o aparecimento de um ator vestido de mulher e cantando uma ária, a platéia prorrompeu em assobios.
— Isso é frescura. Fresco!
O pano desceu para subir novamente agora com a palavra do chefe da companhia:
— Não podemos continuar o espetáculo. Ou a digna platéia sabe comportar-se ou terei de encerrar por hoje o espetáculo.
Ouviram-se protestos, cortassem o número, novos assobios, um soldado de polícia ergueu o boné, o chefe da companhia fazia gestos do palco para o seu Brito que, com as mãos espalmadas, pedia ordem. O chefe da companhia voltou a dizer qualquer coisa áspera que os espectadores da primeira fila ficaram de pé, erguendo os punhos para o palco. E começou a subir, forte, em toda a sala, um cheiro de pimenta-do-reino.
Principiaram a dar espirros e lacrimejar, o pano desceu, rapidamente, ao som da orquestra que tentava abafar a confusão com uma valsa. Sob a pressão da pimenta-do-reino, já insuportável, a platéia se levantou desordenadamente, evacuando a sala.
Lucíola, de olhos ardendo, segurou Alfredo pelo braço, comprimida pela massa que enchia o corredor, o soalho estalava e baixava. E invadindo o palco, os rapazes rasgavam as cortinas, pisavam na cartola mágica; soltaram as pombas brancas, cobriam-se com o véu, assaltaram o guarda-roupa da companhia, espalhando pelo quintal, pela beirada do rio e pela rua a toilete do ruivo, os trajes dos atores trágicos e as máscaras do número final que era uma cena entre Colombina e Arlequim.
Na saída, Alfredo deu com um homem de rosto pintado, cabisbaixo e de cócoras à margem da vala e do tumulto. De mangas de camisa, e cigarro apagado, tristíssimo. Era precisamente o mágico, tão diferente daquele que reinava, tirânico, de cartola e casaca, meia hora antes. Viu-lhe o alheamento, o bocejo, tão despojado de tudo, com a vulgaridade de um qualquer homem e a desvantagem a mais: tinha sido mágico.
Magoada pelos empurrões, protegendo o menino, Lucíola [167] falava sobre o “derradeiro grau a que chegava Cachoeira”.
— Não respeitam mais nada.
— Mas aquele homem foi muito bruto, nhá Lucíola. Foi.
— Pimenta-do-reino, veja! Assim eles fazem quando querem abar festas dos outros. Assim. E isso já se dá até nas ladainhas. Alfredo, divertido — apenas intrigado com a tristeza, a apatia daquela sombra a que ficava reduzido o mágico — achava que o espetáculo da vaia e da desordem fora melhor que o espetáculo e impacientou-se com o comentário de Lucíola. Como Andreza gostaria daquilo! Que pena não levar Andreza. E ouviu adiante o grande riso conhecido: era o tio Sebastião ao lado da Adelaide, mordido pela formiga taoca.
Não quis entrar para comer o filhos que Lucíola lhe guardara.
— Que vexame é esse de ir embora, Fredinho...
Escapou bruscamente das mãos dela, correndo para o chalé.
Lucíola debruçou-se no parapeito da cozinha olhando para os campos, sob o choque daquela desfeita. Fugira dela como um daqueles rapazinhos que meteram o pé na cartola do mágico. Estava contaminado.
Desceu para o quintal, parou diante do velho cajueiro do qual tirava quantos e quantos cajus para ele. A emoção de levá-lo e de estar com ele em presença de tanta gente, o esforço de protegê-lo no atravancamento do corredor, o medo de vê-lo machucado, a rude despedida do menino, o eco das palavras de Dadá, o cansaço e agora a solidão deixavam-na esgotada.
A lua se desenrolava das nuvens grossas e baixas e lavou a parede da casa grande do coronel Bernardo. Que faria de sua vida? Em que a empregaria, afinal, sentindo mais do que nunca que era uma mulher madura? Não queria casar com qualquer homem e não tinha ao menos a atração da Lili, por exemplo. Poderia ter viajado, ficar em Belém nalguma loja de modista, confeccionando chapéus. Seria boa costureira, especialista em roupas de criança —não aprendera tanto nas roupinhas do Alfredo?
À beira do telhado, reluzindo sombriamente no luar, a jibóia tinha a cabeça erguida. Lucíola espantou-a, como se a cobra estivesse ali sabendo-lhe os segredos.
[168] Como dedicar-se a um objetivo, a um verdadeiro sentimento, a uma coisa que lhe enchesse os dias na casa velha? Restava-lhe unicamente aquela dedicação ao menino? E este ignorava ainda a razão daqueles “papéis” que a mãe fazia. Que artes, que segredos ou maneiras teria de aprender para atraí-lo novamente e desta vez substituir a mãe que já lhe faltava? Todas as vergonhas do chalé espalhavam-se em Cachoeira e ele, por incompreensão absurda ou por um orgulho incrível na sua idade, não queria ver, não queria acreditar.
Sem sono, lhe deu vontade de ficar contando os flocos de nuvens que passavam pela lua e de caminhar um pouco até o rio. Que não diriam depois, se a vissem assim, àquela hora, e de gorgurão branco. Estaria virando visagem, com a jibóia enrolada no pescoço, esperando homem. D. Amélia, talvez acordada, bebendo no escuro da cozinha como uma feiticeira, falaria que estava tecendo algum malefício para tomar-lhe o filho.
A jibóia desceu e estendeu-se no soalho. Lucíola apanhou-a, a cobra escapou enrolando-se na escada da cozinha, abandonada ao luar, como à espera.
Até a jibóia a repelia, pensou Lucíola.
Também bruscamente Alfredo se afastou de Andreza porque dr. Bezerra prometera a major Alberto que conseguiria o colégio, pelo menos daria uma ajuda ao embarque dele para Belém.
Ao comunicar-lhe a notícia, com a voz pastosa, d. Amélia balanceava o corpo, com a alça da camisa caindo-lhe pelo braço, o que nunca antes sucedia, observou o filho.
Dr. Bezerra partiu, passou-se uma semana, outra, nem uma carta. Depois Bibiano chegou com a novidade: o intendente recebera um chamado do Rio e teve que embarcar. Major Alberto trouxe a confirmação do fato, sem nenhum comentário. Ao perguntar à mãe, por que não viera uma resposta, uma satisfação por parte dele, uma linha sequer sobre a promessa, D. Amélia que se encontrava bem, lhe disse com um sorriso calmo:
— Ora, meu filho, você já viu essa gente se interessar que [169 pobre estude? Mas nem que eu vá lavar roupa em Belém... você vai. Pela primeira vez, em Alfredo, se fazia mais ou menos clara a presença de uma luta surda, muitas vezes disfarçada, mas irreparável, entre as pessoas ricas, tão poucas e as pessoas pobres que oram sem conta. Até então se julgava do lado das pessoas ricas, inclinado a ser uma delas ou pelo menos protegido, porque seu pai, embora pobre, tinha instrução, era secretario, servia ao intendente. Sua mãe mostrava-lhe uma realidade inesperada, acima das suas soluções de menino, da magia de seu faz-de-conta e o lançava entre os moleques, quase seus semelhantes agora. Ficaria entre os pobres, ao lado dos tios negros ou ao lado dos ricos, recebendo do dr. Bezerra promessas e promessas até o fim?
Franziu a testa, pôs-se a torcer as pestanas, sucumbido. Esse conflito mergulhou em sua consciência como uma semente, que deveria germinar muito tempo depois.
Sem ter resistido ao segredo, confessou a Andreza a próxima partida. Por isso se via agora humilhado, logrado, e, sem querer, com ódio também a menina.
Andreza, que lhe sentia os modos bruscos na invariável negativa para atravessarem o rio e procurarem abelheiras ou ovos de passarinhos nos campos da outra margem, resolveu vingar-se, ao estar certa do adiamento da partida. Entre indiretas, alusões, elogios ao intendente, referencias à chegada desta ou daquela lancha, de filhos de fazendeiros que estavam nos colégios (até mesmo inventava), não lhe deu tréguas.
— Então, seu convencido, que tal o colégio? Estou vendo o sr. Alfredo da Perna Seca ali na aula. Que colégio! Um palácio. Lá vai ele pro museu, lá vai elezinho pro bosque, lá vaizinho pros cavalinhos do largo de Nazaré, lá vai tirando dinheiro do bolso para comprar um papai-mamãe... Me leva, sim, Alfredinho, nem que seja como sua criadinha, sim? Me leva... Ara, me mandazinho um cheiro desse teu colégio...
Ele disse o nome da mãe dela, Andreza atirou-lhe um caco de telha, quase o atingiu na cabeça. Então o menino avançou e os dois lutaram ao pé da vala. Ela era mais ágil, pernas fortes, [170] sabia apoiar-se no chão e sustentava o peso dele a ponto de fazê-lo rolar várias vezes.
Subitamente o ódio da menina se esvaia em meio da luta em que podia sair ganhando. Deixava-se dominar, apanhando no rosto, nos braços, no nariz, começou a chorar numa tentativa de escapulir, protegendo o rosto com as mãos que tremiam. Ele parou, arquejante. Seu ódio estava inteiro. Nisto, apareceu Sebastião que desapartou. Uns moleques, que espiavam de dentro do algodoal, gritaram:
— Seu Sebastião, o senhor então já é jacamim que vive desapartando briga? Deixe...
— Vou cuspir na tua cara, sua sem-vergonha.
Ela, de cabeça baixa, assoou-se e mostrou o sangue das mãos. As lágrimas desciam, sujas, pelo rosto empoeirado e suado. Os olhos levantaram-se num viscoso movimento de areia gulosa...
Alfredo segurou-lhe o braço, apertou-o fortemente para que ela gritasse, o que não conseguiu e a levou para a beirada. No trajeto, os dedos foram afrouxando, os moleques assobiavam, apenas um ou outro soluço perturbou o silêncio em que caminharam.
A beira do rio, num trecho pedregoso, ele colheu a água na concha das mãos e lavou o rosto da inimiga. Com a ponta do vestido dela enxugou-lhe o nariz, os olhos, a testa, silenciosamente. Em seguida, sentou-se de costas para ela, com algum medo, vontade de fugir dali, vergonha ao pensar que poderia ter apanhado, remorso porque se lembrava que a mãe dela estava morta e talvez algum moleque fizera o mesmo com Mariinha.
Uma voz batia-lhe na consciência: dar em mulher, dar em mulher! Ao mesmo tempo vinha-lhe lá de dentro um afoito convencimento de homem.
De repente, Andreza caiu em choro solto de criança. Ele voltou-se. Esperou que ela se acalmasse. Andreza chorava mais alto ainda.
— Não chora, isso passa. — Disse ele, surdamente.
E brando, agora convicto de que havia ganho a luta com as próprias forças e limpando o seu coração naquelas lágrimas:
— Quem também te mandou atirar um caco daquele na mea [171] cabeça, hein? Se pegasse aqui na fonte? Pá, casca, eu morria.
Andreza, então, mudou, e aos poucos foi puxando conversa, mostrou que não escorria mais sangue no nariz, foi contando que o seu tio andava muito doente. Disse mais que fora uma vez surrada por uma cobra cutimbóia (mentira), ferrada por uma arraia (verdade), mordida de piranha, acutilada por uma pedra que um macaco lhe atirara no alto Arari. Falou da esperança de encontrar seu irmão desaparecido. Desejava furar as orelhas para enfiar os brincos. Perguntou-lhe por que era tão mansa a jibóia da casa de Lucíola a ponto de Didico e a irmã levarem a cobra ao colo.
— Tu já viste a jibóia no colo dele, hein, Alfredo?
— Já. Didico cria essa jibóia há muito tempo. Mansinha. Disque é pra dar sorte. Come os ratos. Papai não quis uma no chalé por causa de Mariinha. E mesmo ela podia mamar nos peitos da mamãe dormindo.
— E tua mãe podia furar meas orelhas?
Ele acenou que não sabia e com isso se separaram para três dias depois combinarem atravessar o rio, em busca de ovos de pássaros nos campos da outra margem.
Já no meio do rio, no casquinho pilotado pelo Manuel Judas, Andreza revelou ao ouvido de Alfredo o que fizera horas antes.
— Uma vez tu disse que havia de jogar n’água as chaves do seu Secundino, não foi?
— Foi.
— Pois eu joguei.
Alfredo, que escoava, com um pedaço de cuja, a água do fundo do casco, ergueu a cabeça, a boca aberta, temeroso que Manuel Judas tivesse escutado. Andreza não ocultava o seu temor, embora continuasse a sorrir.
O piloto cortava a correnteza do rio na vazante, os dois em silêncio esperavam, impacientes, encalharem na beirada. Alfredo não via os fundos da rua, a velha varanda do coronel Bernardo, trapiches velhos, sentinas e banheiros, bandas de pirarucu nas varas, roupas estendidas como tripas das velhas casas. Não via nada, [172] via Andreza atirando as chaves no rio.
Já no campo, depois que deram duzentos réis a Manuel Judas, Andreza contou como foi que botou n’água as chaves do carcereiro.
Viu chegarem novos ladrões de gado. Pela fisionomia deles, marcas no rosto, rasgões na blusa, Andreza compreendeu que haviam sido espancados. Foram conduzidos ao xadrez como bois na caiçara para o embarque. Ouviu-se o estrondo da porta fechando, o ruído ferrugento das chaves, a tosse do seu Secundino.
Andreza deixou passar um tempo e foi espiar pelas grades. Estavam atirados a um canto, dormindo. Cabeludos, sombrios, deveriam feder. Eram cinco. Um deles abriu os olhos e deu com a menina. Ficou uns segundos piscando, levantou-se. Andreza reconheceu-o, um primo, o filho da finada tia Veridiana.
— Custódio... tu preso?
Custódio veio até as grades, como se arrastando. De repente, num gesto de raiva sacou a camisa e mostrou as costas chicoteadas. E disse, numa voz cansada:
— E parece que estou rendido.
Ela queria responder: mas furtaste. Mataste gado que não era teu.
Com as mãozinhas nas faces, sentiu um enjôo, um aperto na garganta, um desejo de inocentar aquele primo que vira na fazenda tão esperto, saltando sobre poldros mais ariscos, fazendo recuar com seus gritos as reses brabas. Não sabia bem o que era ficar rendido, mas via o primo se arrastando, voltando para a esteira com muita dificuldade, amparando-se pelas paredes. Lembrava-se lo pai. Seu pequenino ódio cresceu contra aqueles brancos que mataram seu pai, que levaram seu irmão, que agora prendiam custódio.
— Vai. Vai-te embora, antes que te prendam — disse ele. Agora me mandar pro S. José. E lá vou morrer de bicho. Podre de bicho.
Andreza volveu ao seu pardieiro onde morava e saiu com um embrulhinho de café, dois torrões de açúcar; foi à padaria, e se aproveitando do cochilo do velho Antonio Português, furtou-lhe [173] três bolachas da barrica. A medo, olhando para todos os lados, acenou para Custódio. Seu Secundino deveria estar próximo, pois se ouvia a sua tosse.
— Deixo aqui, reparte com eles.
Fugiu para a beirada onde se demorou fingindo que escolhia pedrinhas lisas e veio espiar novamente.
Cismando sobre os furtos de gado, as costas esfoladas do primo, o horror daquela prisão de Belém onde se morria de bicho, Andreza reparou que seu Secundino já estava sentado no mocho, à porta do corredor que se comunicava com o do xadrez, cochilando. Eram duas e meia da tarde. O velho tossiu um pouco mais, resmungou qualquer coisa, as mãos caíram e adormeceu.
Pé ante pé, Andreza se aproximou dele, não viu as chaves. Circulou o olhar pelas paredes, namorou as gavetas da mesa, ate que avistou o molho num banco atrás de uma moringa.
Eram cinco grandes chaves que pesavam. A menina lembrou-se de Alfredo. Primeiro quis trazê-las ao menino, depois entregá-las a Custódio.
Ansiosa e em confusão, com um princípio de terror, tentava persuadir-se de que seu Secundino dormia mesmo, não a espreitava. Aguardava o momento para apanhá-la em flagrante e atirá-la na prisão das mulheres? Os ladrões, na certa, acusados de a terem mandado furtar as chaves, novos espancamentos sofreriam. Para ela seria aquela grossa palmatória da delegacia, bolos nas mãos, na palma do pé, na mesma hora entregue às Gouveias, mestras cm maltratar órfãs e mandá-las depois como encomendas para outras malvadas em Belém. As pernas começaram a tremer, voltou a depositar as chaves no mesmo lugar, correu para as grades, os homens continuavam adormecidos.
Que fazer? Teria coragem? Refletiu, o tempo passava, veio-lhe a esfumada recordação do pai estendido junto dela, o rosto esfolado, num fio de sangue coalhado no peito, que escorreu do furo da bala.
Avançou sobre as chaves, apanhando-as rapidamente e parou diante do xadrez e dos olhos do carcereiro que roncava de boca aberta. Assobiou baixinho e do modo como as moças assobiam [174] para um rapaz.
— E asneira, prima, pra que serve? — falou-lhe baixo Custódio. — Eu só me arrasto.
Andreza fitou-o num desapontamento e com vontade de gritar: frouxo, frouxo! com aquelas chaves pesando-lhe nas mãos. ouvia a respiração do primo que enfiava os dedos pelos cabelos crescidos e duros.
Compreendeu afinal que eles estavam perdidos, seriam pegados mais cedo ou mais tarde. Por isso seu ódio voltou-se contra as chaves. Aqueles ladrões morreriam podres de bicho. Mas as chaves, essas lhe pagariam, ah, que pagavam, pagavam... E atirou-as ao rio.
Em casa, a ponto de ter um passamento, deitou-se na esteira, pois rede não tinha, o que ocultava a Alfredo. Cerrou os olhos procurando alívio. Seu Secundino viria com a palmatória, ela teria de confessar diante do tenente. Os próprios ladrões a denunciariam.
Aos poucos uma satisfação lhe tirava os receios, a de contar tudo a Alfredo. Este interferiria junto ao pai e mesmo Alfredo sempre desejou, como lhe dissera uma vez, atirar aquelas chaves no rio.
Agora no campo da outra margem, Alfredo lhe observava que, sem as chaves, os presos ficariam encarcerados durante grande tempo.
— E não podias abrir o xadrez?
— Como? Mea força não dava. Depois seu Secundino podia ouvir...
À procura de colméias selvagens, pulando na ponta dos aterroados, varando as restingas, Alfredo aprovou em silêncio o gesto da amiga.
Pôs-se a rir ao pensar que seu Secundino, naquela hora, estaria procurando as chaves, tossindo, tossindo.
— Arre, velho, arre... Disse, então, alto.
Riram, indiferentes ao tempo, convencidos de que Manuel Judas os enganara ao indicar aquelas baixas como lugar de ovos de pássaros e de abelheiras.
[175] Sentada num galho de pitombeira, Andreza planejava afastar-se um pouco mais da beirada, temendo possíveis perseguições por parte do tenente. Se Custódio dissesse? E assim resolveu atrair o amigo para uma excursão um tanto longa e audaciosa: irem à Mãe Maria. Duas horas a pé. Alfredo concordou. Estavam contentes da vingança, as chaves se afundavam no lodo do rio, nunca mais seu Secundino as encontraria.
Mas, de repente, Andreza perguntou:
— E o ferreiro? Ah, ele faz outras... Não?
Alfredo não respondeu logo. Viu a toca em que se enfurnava o velho Bento, aquele espanhol perdido em Cachoeira, um ar de velho e maltratado santo de deserto, ao clarão da forja e faíscas bigorna, batendo, batendo.
— Ele faz, sim, confirmou.
Caminhavam tristes, outras chaves ocupariam as mãos de seu Secundino. Passaram a correr à frente de uma vaca que os ameaçava, avançando sobre eles. E se desviando do gado, abaixavam-se pelas moitas, ziguezagueavam, fazendo medo um ao outro, evocando mãe de fogo mostrando imaginárias cascavéis, seu Secundino tossindo atrás.
Nisto, Andreza deteve com o braço o companheiro e apontou: Sentados no chão, atrás do boi deitado à sombra de um muricizeiro, estavam um homem e uma mulher. Correram para lá e reconheceram Raul e Celina, ambos já de pé, surpreendidos, o boi, na mesma posição, ruminava, indiferente.
Alfredo reconheceu o boi. Era o rosilho do mestre Afonso, grandão, chifres serrados, que carregava barril d’água do cata-vento e conduzia moças e meninos nos passeios pelo campo quando não havia ainda o arame farpado do dr. Lustosa. Também era boi marrequeiro, guia de gado que atravessa o rio, velho boi, metia a cabeça pela porta de casa e só faltava falar.
Raul, afeiçoado ao rosilho, sempre desejou adquiri-lo. Nele montava, cruzando o rio, levava-o para a outra margem. Tinha muitas pinturas dele. Agora o animal estava ali deitado, abanando o rabo, cúmplice daquele namoro proibido. Junto, a sua obra fresca, verde, como um bolo. Atrás, os dois assustados. Ela vestia [176] uma chita de riscos azuis, larga fita cor-de-rosa no cabelo, chinelas nos pés. Alfredo lembrou a noite de São Marçal. Esta Celina era bem diferente daquela. Tinha uma beleza magoada, quase culpada, que se desatava em lágrimas e soluços. Com efeito, a moça chorava. Tentava esconder o rosto no braço polpudo, caminhou um pouco, se falasse teria sido penoso, pensou o menino. Mais gaga ficaria. Raul, confuso, parecia irritado com os meninos.
— Isto é perseguição dos pais dela.
Alfredo, então, cochichou:
Foi o bastante para Alfredo se condoer inteiramente, lembrar-se de Clara, que se afogou, de Irene, que sumiu, de Felícia fugindo da cabana incendiada... Andreza tinha um ar de triunfo, apanhara-os, “estavam na sua mão”. No íntimo, caçoava da moça, com uma sutil crueldade de menina, desejando mesmo que os pais a encontrassem ali ao pé de Raul e do boi. Agora, sim, Celina lhe pagava.
Pois Celina, do alto de sua casa, daquela escada de cimento, olhava sempre de queixo empinado as pessoas que passavam na rua, principalmente menina descalça. Uma vez, Andreza tentou colher uma papoula entre as estacas da cerca vizinha. “Que estás roubando aí, pirralha?”, foi o ralho brusco de Celina, lá da janela. Que susto pegou Andreza, ferindo a mão na estaca, deixando a papoula intacta subir de novo no galho que a menina havia apanhado. “Mas tu me pagas”, jurou então. E agora pagava ou não pagava?
Agora a moça da calçada alta, da janela alta, estava rasa e chorona, em meio do cheiro da bosta de boi. Andreza estremecia de triunfo.
Alfredo, sem adivinhar os pensamentos da menina, desejava, isto sim, que os dois partissem de vez no boi rosilho, sumindo naqueles matos que azulavam tão longe. Raul aproximou-se dele e lhe pediu baixo, a mão no ombro do menino: “Bico, hein? Camaradagem, nem um pio por lá, hein?” Celina ergueu o rosto molhado e logo tentou enxugá-lo com a ponta do vestido. Andreza teve uma vacilação.
Raul fez o boi levantar-se, puxando-o pela corda e apertou a mão da moça que se afastou e seguiu sozinha. Dourada pelo sol [177] no rosto, entrecerrava os olhos, como se caminhasse adormecida. Os meninos viram a moça, ao lado de duas companheiras que cantavam, atravessando o rio numa canoa verde e branco, pintada pelo Raul. E ia de pé, muda, cabelo em desalinho, com um ar ainda assustado, mas feliz. Alfredo e Andreza não tiravam os olhos, entreolharam-se como apanhados de surpresa na mesma curiosidade e sorriam. Então a menina roçou os lábios pela orelha Alfredo que recuou.
— Abelha te ferrou, foi? — perguntou ela, quase ofendida. Próximos à Mãe Maria, Andreza disse que lá havia uma festa naquela noite.
— Mentira, Andreza, mentira.
A menina descreveu detalhes dos preparativos da festa. As pessoas que foram de Cachoeira. Conversas nos trapiches, nomes de montarias e músicos.
— Até me admira que Rodolfo não tivesse falado isso na tua casa. Ah, já sei, ele não apareceu hoje por lá, não foi?
Isto chegou a persuadir um pouco o menino. Ao chegarem aos currais da fazenda, era noite fechada, a casa grande em silêncio e às escuras.
Alfredo quis regressar no mesmo instante, sozinho, repelindo a companhia dela. Andreza protestou cansaço, ia pedir um gole d’água, demonstrou medo por causa das chaves. Debruçou-se nas trancas do curral diante da casa grande e principiou a descrever, em voz meio cantada, a festa que “via”: o salão cheio-cheio, pares arrastando os pés no soalho, o chiar de carne assada na cozinha.
— Tu não está vendo, Alfredo? Nem ouvindo? Olha bem, agora é uma valsa. Ah, pronto. O vento apagou a luz da sala. Olha... aquele moço mais que depressa deixou a dama, esperando que acenda a luz. E o padre Contente descendo a escada, levando uma dama pelo braço... Para onde vai? Um cheiro de comida boa... Pronto, acendeu a luz. Está vendo aquela moça ali na janela? Sou eu, vestidinha de azul, um laço de fita no cabelo, um buque de jasmins em no peito e estou cheirando... Pronto, um moço vai me tirar. Não quero esse. Quero o outro. Agora vou dançar, danço bem... [178] Olha, olha, o Custódio dançando... Agora é branco, é preto, é da gente se misturando na dança... Só Alfredo, coitadinho, está acima da porteira, serenando. Ninguém deixou ele entrar. Está m, está bem. Logo que eu acabe de dançar esta parte, venho iscar ele... Espere aí, um pouquinho, sim?
Com pedaços da lembrança de um baile de brancos visto numa fazenda do alto Arari, ia descrevendo e completando o baile que imaginava na Mãe Maria e assim retardava o regresso, receosa de aparecer, naquela noite, ao pardieiro do tio.
Por fim, descrito o baile. Andreza ficou inerte ao pé do menino. Fatigada, perdia o medo do regresso.
— Hum, estou cansada de tanto dançar, meu mano. E tu? Alfredo não reagia, um pouco embalado pela imaginação da menina.
A noite avançou, regressaram devagarinho, até que sentaram à beira do rio, esperando alguma embarcação passar. Alfredo olhava o chalé, encoberto um pouco pela Folha Miúda, e que deveria estar com a fisionomia carregada. Andreza falou de peixes, pediu um anzol, da outra noite em diante iria pescar no Arari.
Afinal anunciou uma história.
— Andreza, conta a história. Não inventa.
— Te juro que é. Um tripulante da “Lima Júnior” me ensinou. Escuta.
Ela deitou-se na penugem do capim que brotava do chão da beirada, os olhos nas estrelas, pernas estiradas, e contou, muito séria, num tom de cantiga:
— Era uma vez uma barquinha pequenina. Era uma vez uma barquinha pequenina. Era uma vez uma barquinha pequenina. Que não sabia, não sabia navegar. Passou uma duas três quatro cinco seis sete oito semanas. Passou uma duas três quatro cinco seis sete oito semanas. Passou uma duas três quatro cinco seis sete oito semanas e a barquinha não saía do lugar.
Como esta história está ficando muito chata, como esta história está ficando muito chata, como esta história está ficando muito chata, se querem outra, querem outra, vou contar.
Consertou ligeiramente a garganta e prosseguiu:
[179] — Era uma vez uma barquinha pequenina...
Alfredo soltou um ah, de encabulamento, afastou-se e começou a jogar pedras no rio.
Andreza conseguiu achar um “olho de boi” que a maré deixara entre as pedras soltas e exclamou:
— Vamos, rio. Quero saber quantos filhos vou ter. Jogou a semente que ricocheteou duas vezes na superfície da água.
— Dois! Dois!
E gritou de súbito:
— Olha, olha, a barquinha pequenina que vem nos dar passagem.
Era o casco do Pedro Camaleão que, à proa, se aproximando da margem, abria a tarrafa para lançá-la no rio.
E então Andreza teve um breve pressentimento de que a tarrafa poderia trazer, entre os peixes, as chaves do seu Secundino.
[180]
5
— O quê? Hein, Rodolfo? Seu Alberto já vem da Intendência? Então já é onze e meia, meu Deus?
O tipógrafo não levantou o olhar nem parou os dedos que iam e vinham dos caixotins de tipos para o componedor na mão esquerda que tremia. Gaguejou qualquer coisa, compondo a palavra “infração” para as novas posturas municipais redigidas pelo Major. Alfredo surgia na varanda, com uma espiga de milho meio debulhada, indagando o que era, o que era... Correu à saleta. O velho despertador marcava dez e quinze.
— Mas esse aí não está regulando mais, meu filho. Caducou de uma vez. E se está regulando, que aconteceu pro seu Alberto já voltar a estas horas? Repara na sombra da parede da casa do coronel Bernardo. Eh, ainda não chegou na calçada... Só se o sol mudou de posição. E se for mesmo onze e meia, estou é frita. Tudo cru, nem a lenha pegou.
Quando o Major atravessou a pontezinha, paletó escuro, a gravata de elástico, as calças claras, o chapelinho de massa bem usado, a bengala castanha e mansa, d. Amélia disse baixo:
— Mas eh... Seu Alberto vem vermelho, uma brasa. Que então já foi? Deu-se coisa.
Ele foi varando para o quarto onde se abateu com paletó e chapéu, vermelhíssimo, na rede, dando um colérico impulso para o embalo. O chapéu rolou no soalho e Mariinha apanhou, perguntando ao pai se estava com muita febre.
[151] Na varanda, Alfredo, com a espiga na mão, olhava para a mãe. Esta, calada, parecia refletir, O desentendimento crescente entre os dois não permitia mais que ela fosse logo perguntar o que acontecera. Teria sabido coisa dela? Quanto à noite de São Marçal, dissera-lhe sem detalhes o que fez a uma das Gouveias. E o Major, que vinha se mantendo arredio, sem intimidades para não encorajá-la a novos excessos, não desejava se abrir com ela, como nos bons tempos.
Ouvia-se o embalo rápido da rede e o tactac agora muito lento do componedor de Rodolfo que fingia muita atenção ao seu trabalho. E como no quintal o porco passasse a grunhir alto, d. Amélia mandou o filho terminar a debulha e levar a ração ao chiqueiro.
O menino entrou na despensa, emburrado. Principiou a debulhar menos o milho que a curiosidade. Que acontecera com o pai? Não resistiu e voltou à varanda, surpreendendo Rodolfo de ouvido inclinado para a banda do quarto onde d. Amélia e o Major já conversavam. Alfredo alegremente aproximou-se da porta. E pôde ouvir:
— ... Seis contos e quatrocentos. Dinheiro para despesas eleitorais em Belém. Sem comprovante, sem nada. E quis que eu colocasse nas despesas aqui. Enfim, que eu forjasse recibos, justificasse a saída. Lima verdadeira conta de chegar. Aí...
Alfredo interrompeu a escuta porque fora surpreendido pelo tipógrafo que o fitava, piscando olho e o faro agudo na conversa. O menino franziu a cara. Rodolfo voltou ao componedor.
— ... ficou vemelhão. E eu repeti que a responsabilidade viria cair nas minhas costas. O sr. é um homem rico, deixa isso aqui e passará amanhã de largo no “Bicho” como um homem muito honrado. Coitado, dirão, poderia fazer um bom governo, mas seus auxiliares roubavam... O secretário que se veja na boca de todo o mundo.
Major deu novo embalo.
— ... “Major”, disse ele, o “sr. não está compreendendo”. Não quero absolutamente colocá-lo mal. Longe disto. Afinal é uma rotina...” Aí, psiu, viu? respondia: rotina de não prestar contas do [152] dinheiro público? De fazer contas de chegar? O dr. confunde as contas de suas fazendas com as da Intendência. Está muito certo, mas no fim quem responde amanhã? O sr.? Ele resmungou: “Afinal, Major...” E como eu visse até onde ele ia, cortei logo: sim, dr. Bezerra, afinal o intendente é o sr. Isto quer dizer: porta da rua, serventia da casa. Aqui isto se parece com uma corte. Quando o rei não está satisfeito com o primeiro-ministro, basta escolher outro. O rei reina e governa.
Alfredo ficou gelado. Seu pai não seria mais o secretário da Intendência Municipal? Foi como um começo de pânico interior. Era a partida para o sítio, e adeus para sempre, Belém. Seguiu-se um movimento de orgulho pelo pai. Enfrentara aquele branco, o intendente, que era recebido pelo governador do Estado e passeava na Inglaterra. E por último chegava a compreender que o velho poderia ter cedido, pois, naquelas semanas o chalé passara por grandes dificuldades que Alfredo tratava de esconder sempre aos olhos dos moleques, quando estes vinham pedir comida. Preferia ser mau com eles, dizer-lhes que sua mãe não lhes queria dar mais nada, a dizer que não havia farinha no chalé. Escondia essa situação a Andreza sempre de olho vivo em tudo. Explicava a esta que o café com bolachas na hora do jantar era desejo de seu pai, de todos no chalé, não por falta de comida. E ele que achava impossível o que acontecia com aqueles pobres da rua de baixo, onde não havia pão, nem carne, nem açúcar durante dias! Os empregados da Intendência para o açougue e para a taberna. A carne para o chalé. Alfredo trazia do mercado, era fiada e os vales se acumulavam na mão do açougueiro. Este, por isto, lhe custava aviar e não cortava o crédito porque o Major era o secretário, O primeiro-ministro. Também dinheiro não via, durante semanas, no chalé. Nem uma nota de dois mil-réis. Recordava-se daquela tarde. Um canoeiro de Igarapé-Miri vindo de Lago, queria uma palavra com o Major sobre o despacho de sua embarcação carregada de carne de capivara, dois bois velhos, peixe seco. Quando o canoeiro se despediu, major Alberto, com uma alegria infantil e trinta mil-réis na mão, foi na cozinha onde d. Amélia preparava mingau de arroz como jantar. Era uma cobrança de imposto e [153] Major decidira ficar com aquele dinheirinho porque há dois meses não recebia seu ordenado. Explicava que os embarques de gado, seu imposto de exportação era a receita da Intendência, começariam em setembro. Os trinta mil-réis do canoeiro caiam do céu para as necessidades do chalé. No entanto, mandou chamar Didico, o porteiro, para dar-lhe um vale de dez mil-réis. Coincidiu naquela noite que o filho da nhá Porcina trouxera para a madrinha um pato brabo morto noutro lado do rio. A mesa foi posta tarde no chalé, mas jantaram.
Major, depois daquele silêncio em que d. Amélia sentada na mala grande, continuava a refletir, descreveu a confusão do intendente, de um lado a outro, corado, a mão na calva.
— Botei o chapéu na cabeça, disse o Major levantando-se da rede e tirando o paletó, e falei. Entro e saio, dr. com as mãos abanando e é o que me basta.
Desta vez, Alfredo esqueceu a explosão de dignidade do pai para pensar unicamente no sítio para onde iria, metido em matagais e coqueiros tombando na maré. Seu pai, com efeito, dizia sempre: livrem-se de minha explosão.
Também explodia por causa de tudo... Esse esboço de restrição ao pai ficou um tanto obscuro em seu espírito. Um desespero subiu-lhe pela garganta, vontade de pedir explicação ao pai, atirar pedras no intendente. E logo sua esperança se voltava para a mãe que deveria fazer objeções, não sabia quais fossem, mas o essencial era salvá-lo do igarapé Puca distante da vila umas dez horas de remo.
D. Amélia saiu do quarto, cantarolando, como se nada acontecesse, à semelhança daqueles dias normais do chalé em que sabia dominar-se, ver as coisas com firmeza e aparente distração. No íntimo, estava um pouco estonteada, no meio disso um fio de remorso correndo-lhe, infiltrando-lhe um miúdo sentimento de culpa, certas reservas acerca da atitude do seu Alberto (teria sido justo?) e tudo girando agora em torno da viagem do filho. Viu também dentro da lama o barracão no Puca onde os filhos aprenderiam unicamente a morrer de verminose.
Major Alberto enfiou a velha camisa de tipógrafo e veio [154] andando com um sorriso, a vermelhidão se apagara, havia uma satisfação em seus olhos que se tornavam muito azuis. Ia descrever novos detalhes do incidente quando d. Amélia se voltou e falou com uma convicção que fez Alfredo abrir os olhos de espanto:
— E. Fez bem. Pensam que tudo podem fazer e acontecer... Depois quem muito se abaixa...
E olhou para o filho que se encostara na parede.
Major Alberto fez uma pirueta, curvando-se, e de costas para d. Amélia concluiu o ditado com esse movimento. Alfredo, então, riu curto e nervosamente, seguido de Mariinha que queria, porque queria, montar nas costas do pai e galopar pela varanda.
Major Alberto abriu a estante, apanhou a sua fotografia tirada aos 46 anos. Rosto cheio, bigodes empinados, o olhar de candidato a intendente de Muaná. E murmurou: E, meu velhote. Não tem outro remédio. E agora fazer sabão, foguetes, arranjar encomendas para a tipografia e como? Devolver o prelo grande, as caixas novas de tipos. O Puca me espera. Saberei ao menos beber água de coco. E que se arranjem, que se arranjem.
Estava ainda sob o bem-estar do duplo desabafo: havia explodido com o intendente e contado a explosão a d. Amélia. Guardou a fotografia para ouvir da companheira:
— Seu Alberto, você não conhece bem esses homens. Aposto que ele esteve lhe experimentando. Aposto que ele... hum! E quem ele acha agora para secretário, assim num átimo? Um homem como você que só falta varrer a Intendência... Hum...
E virava na mão o pedaço de carne para o bife.
Às duas horas da tarde seguinte, cismava Alfredo na pontezinha, quando um homem alto, todo de branco, perneiras, chapéu colonial, saiu da Intendência e veio vindo, passando pela casa do Salu, beirando rente à cerca da padaria velha para evitar a lama da rua, até que parou na ponta do aterro, defronte do chalé. Tirou o chapéu e enxugou com o lenço grande, branco e bem engomado, o lustre da calva, o pescoço e a testa. E com maior surpresa [155] do menino, o homem encaminhou-se para a Folha Miúda, abanando-se com o chapéu como se quisesse enxotar o sol que lhe assava a larga calva reluzente. Deteve-se à sombra da árvore ao cabo de instantes acenou para o menino, chamando-o. Este cochichou: Bolas, não passou por aqui? E não se moveu. Os acenos continuaram com o chapéu que pareceu enorme, de fundo esverdeado. Alfredo foi.
— Está brincando?
Alfredo não respondeu, entre prevenido e tímido.
— Você me conhece?
— Não, mentiu o menino.
— Não me conhece? Nunca me Viu?
— Não.
— Pois eu conheço você. Sei o seu nome. Conheço seus pais.
Aqui Alfredo sentiu-se um pouco envaidecido; afinal, aquele homem o conhecia, sabia o seu nome, não dizia apenas “conheço Leu pai”, esquecendo o nome de sua mãe e sim, “conheço seus pais”. Conhecera os filhos dele, de passagem na “Bicho” para as fazendas, mas tão brancos! Roupas de casimira, os joelhos muito alvos que nunca tivessem tocado o chão. Pela primeira vez conhecera meninos ricos. Viu-os de longe, sem trocar uma palavra com eles, como se os visse através de uma vidraça.
O intendente, que se calara, andando à sombra da árvore, voltou a falar com o menino que se dispunha a fugir:
— Conhece o major Alberto?
— Meu pai.
— Ah, seu pai. Então eu não me havia enganado. Meus cumprimentos por ser filho de um homem de bem. Orgulho-me de ser seu amigo e dele ser o meu secretário. O meu primeiro-ministro. Sabe o que é primeiro-ministro? Pergunte a seu pai. E me faça um grande favor, ouviu? De me levar este recado: que estou esperando ele aqui conforme combinamos anteontem. Espere, tome...
Alfredo afastou-se, viu a cédula nova enfiada entre os dedos do intendente e hesitou. Quanto? Cinco? Dez? O intendente estendeu-a, acenando com a cabeça que aceitasse. Mas o menino correu para o chalé.
[156] — Quem que marcou encontro com esse... eu? E um maluco e onde está ele?
Alfredo arquejava um pouco por causa da carreira e uma onda de sangue subiu peio rosto do pai, onda de orgulho, suficiência, surpresa, talvez triunfo.
— Está maluco. Que se arranje. Já sentiu a minha falta esta manhã? Um malucão.
Foi à janela e viu o intendente, de pé, à sombra da árvore, contemplando o rio.
Voltou-se para o menino.
— Repita o que foi que ele falou.
Alfredo repetia o recado com ênfase o que desta vez foi ouvido por d. Amélia.
— Não lhe disse, seu Alberto?
— Veremos. Veremos.
Ela acrescentou que não saísse como estava, pusesse o paleta sem gravata. Dividiriam a dignidade ao meio, a árvore era a fronteira e d. Amélia ria, por antecipação, da cena que iria apreciar.
Major, de um lado a outro, descalço, esticando as pontas da camisa de fora, resistia ainda, ou fingia resistir para se tornar mais precioso diante do intendente e do chalé. Teve, de súbito, um repelão de orgulho: queria que o menino fosse chamá-lo. Viesse ao chalé.
D. Amélia considerou que era uma grosseria da parte dele. Se o intendente lhe havia ouvido os desaforos na Intendência e chegara até ali na Folha Miúda, bem defronte do chalé, não seria nada demais que o secretário, o primeiro-ministro, vencesse aquela pequena distância, tão favorável para ele. Alfredo engolia receios de que o intendente poderia ter mandado chamar o pai para uma satisfação sabia lá com que conseqüências públicas e d. Amélia trouxe os sapatos do Major.
Este, antes de calçá-los, assomou à janela. O intendente voltado para o chalé logo acenou-lhe com o chapéu, com as mãos, gritando cordialmente:
— Major, uma palavrinha. Uma só.
[157] Dr. Bezerra estava impaciente e vexado. Mas era preciso ir até àquela árvore e pedir a entrevista.
Em Belém, entre os amigos, até mesmo em Palácio, falando com o governador, ou na estrada de Nazaré, na casa do senador Cipriano, chefe do Partido, dr. Bezerra exibia a honradez de seu secretario como uma conquista, uma propriedade sua, um merecimento a mais na família Bezerra. No fundo, uma espécie de compensação ao que não tinha ou perdera, estava quase consciente disso. Também fazia supor que o Major era criação sua, fruto de seus conselhos, de sua arte de administrar e politicar. Não queria ele, Bezerra, em sua Intendência cada coisa no seu devido lugar?...
Embora reconhecesse que não chegava a ser tão desonesto como alguns supunham, nunca mandara surrar vaqueiros, furtar gado, matar pescadores, quebrar urnas eleitorais. Tudo isso, é verdade, havia sido feito pelo pai, de quem herdara a fortuna, sim, mas não as origens dela. Por que, então, não merecer um secretário de ouro como aquele? Homenageava-se a si mesmo, exaltando a honestidade do Major, como se esta fosse a sua verdadeira obra administrativa.
— Um homem competente, honrado, mas algumas vezes malcriado.
Ah, as malcriações do secretário que a sua tolerância, seus princípios liberais, sabia apreciar e estimular! E disso falava também nas reuniões da família ou distantes encontros com brasileiros numa clínica suíça, como se falasse de preciosa peça indígena de que nunca abriria mão.
Agora, o intendente não queria tornar claro em seu pensamento que a decisão de procurar o secretário era pura e simplesmente porque tinha necessidade do Major. Não, não queria dizer isso, nem mesmo pensar. Era a sua liberalidade atendendo ao impulso do Major que logo não compreendeu aquela questão de cibos. E depois, um nonada, duas pessoas de bem saberiam entender-se. Major fora agressivo. Confundir a Intendência com as fazendas... Teria de ceder, sim, porque... No mais, era aquela amizade ao Major, sim, o desejo de vê-lo sem dificuldades a [158] sustentar duas famílias, a sua companhia inteligente, aquele hábito de voltar da Europa, de Belém, dos luxos da família e encontrar o Majorzinho na Secretaria, tão assíduo e tão probo.
Dr. Bezerra, à sombra da Folha Miúda, olhou em torno, pensou que poderia mandar fazer ali defronte do chalé, beirando o rio, um jardim público. Era necessário aterrar. Ah, se pudesse mandar buscar um engenheiro holandês.
Alfredo deitado na pontezinha e d. Amélia à janela entreaberta, ficaram espiando a cena em que o intendente abraçou o secretário, gesticulou risonhamente e instantes depois deixaram a sombra da árvore. O dr. Bezerra passara o braço pelas costas do Major que sorria, encabulado, tentando cobrir a cabeça com a mão tão alva contra o sol.
D. Amélia ria abafadamente e recuou da janela, agora surpreendida e assustada, porque os dois se dirigiam para o chalé. Desarmou afobada a rede da saleta, ajeitou as três cadeiras, enxotou a Minu, fez Mariinha apanhar as revistas e sapatos espalhados, correndo para a cozinha a fim de pôr a chaleira no fogo, mandando Alfredo, às pressas, emprestar uma colher de café em pó na casa de Lucíola.
Para Alfredo foi como a recuperação do chalé, de Cachoeira, lo campo, do rio por onde partiria.
À beira do poço, derramou o primeiro balde d’água na cabeça, fechando os olhos, na delícia da breve sufocação, encolhendo-se, todo arrepiado com o friúme do banho. Pulou em torno, nu ensopado, assobiando, a água tinha um gosto de tabatinga. Fechou os olhos com as mãos e os abriu para ver que a tarde era ,ela, uma tarde de julho.
Seu olhar alcançou dali as barracas da rua de baixo, logo o fundo dos campos, depois a Estação de Monta, as cercas e verduras da vila. Alegremente desejou visitar Lucíola, reconciliar-se com [159] Andreza com quem brigara na véspera e soltar em sua companhia o barquinho do Didico na lagoa.
Lançou novamente o balde dentro do poço e ficou debruçado, puxando-o pela corda crespa, tentando enchê-lo. Lá do fundo, onde boiava o muçu, subiu a recordação de Irene. Nunca, nunca mais ouvira falar dela. Voltou-se para o quintal, querendo enxotar essa lembrança ligada a uma época infeliz do chalé de que provavelmente sua mãe sofria as conseqüências. E sua imaginação, mais forte que a vontade, fez crescer os passos de Irene sobre Cachoeira, pejada como uma nuvem de chuva.
Imprecisamente comparou-a a uma daquelas figuras vistas no livro da mitologia. Esquecera o nome das figuras, por certo que nem a professora sabia de cor. Mas uma palavra lhe ficou e que explicaria tudo: Deusas. Mulheres de Deus? Havia no tempo antigo muitos deuses. E agora por que um deus só? Já não observara, uma vez, que seu exame de consciência hesitava entre três deuses, o de sua mãe, o de Lucíola e o de seu pai? Até agora não pudera fundi-los num só deus nem reconciliá-los, O livro da mitologia não só falava de muitos deuses como também das deusas, mulheres deles. Andava nos bosques e nos campos, talvez não gostassem dos altares. Só Irene comparava-se a elas. Clara não, porque ria, remava, falava, comia frutas, morreu. Irene era aquele silêncio de sempre em que a gravidez parecia lhe ter tirado a voz e os movimentos, enfim tornando-a deusa. Deusa e grávida, atravessava os campos e derramava de seus cabelos à noite sobre a vila.
Corre nu pelo quintal, contente com o ingazeiro, o mamoeiro de vida tão curta, a goiabeira mirrada no chão de tabatinga, o tamarindeiro de tamarindos mais azedos do mundo que lhe faziam lembrar os dentes de Clara escorrendo resina. E com maior alegria foi encontrar-se com a sua mãe em direção do chiqueiro e que “léco, léco, léco” chamava o porco. A ração que ela ia despejando no cocho cheirava como comida de gente.
— Meu filho, que banho é esse? De andar correndo nu? Já um tamanho homem.
— Tamanho homem, mamãe?
[160] Ele queria explicar: Papai não sai mais da Intendência... Não vou para o sítio onde Mariinha poderia morrer. Daqui só posso ir para o colégio. Estou vendo o rio, vendo embarcações passarem, numa delas partirei.
Mas nada disse e tão alegre estava que lhe perguntou se não queria regar o canteiro do caruru e couve, carregaria tantos baldes que quisesse. E passava a repetir bem alto “léco, léco, léco” chamando porcos invisíveis que fugiam pelo quintal, chamando o dr. Campos, de orelha cortada, chamando as árvores do cercado que lhe pareciam escutar, a Minu que agora o acompanhava, as estrelas meio acordando com o barulho, piscando, tontas ainda da longa e morna sesta do dia.
Logo depois do jantar, saiu correndo para a casa de Lucíola, que o recebeu como a um filho pródigo.
— E olhe que adivinhou. Tenho aqui duas entradas para o teatrinho que estreou ontem. Você já deve saber. Disque vindo de Belém. Você quer ir? Vamos. Não custa eu me preparar.
— Vou correndo pedir pra mamãe.
— Não, não, eu grito daqui da janela do lado pro chalé.
Alfredo consentiu. Se Lucíola quisesse beijá-lo, sentá-lo no colo, deixaria. Ouvia com deleite o grito de Lucíola:
— D. Amélia, d. Amélia, d. Amélia...
Nenhuma resposta do chalé. Lucíola chamou novamente. Responderam. Uma voz indistinta.
— D. Amélia, Fredinho vai comigo no teatro.
A voz da mãe do outro lado vinha vindo contra o vento que os longes sopravam sobre o chalé. Os dois custavam a saber se ela permitia ou não. Para Lucíola, bastaria apenas avisá-la. Alfredo hesitava. Por fim, d. Amélia falou de novo, podia ir, sim. Alfredo ouviu a voz distante que o vento depurava, tornando-a mais maternal, saudosa e tranqüila, também feliz, enchendo o seu coração.
[161] Alvoroçada, Lucíola voltou do quarto já com o seu melhor vestido, de gorgurão branco, quando Dadá, que chegara da casa de Salu, com um monte de folhetins, reclamou grosseiramente:
— Minha entrada, Lucíola. Não sabias que eu ia?
Desapontado, Alfredo apressou-se a devolver-lhe as entradas se dirigiu para a porta. Lucíola, aflita, o deteve, olhando para Dadá numa voz de censura mal contida:
— Tu vais com ele, Dadá. A entrada dele é a minha. Não precisa tudo isso...
— Eu, hein! Sei ir só. Nem quero saber disso. Toma.
As entradas caíram no soalho. Lucíola apanhou-as sob as exclamações da irmã:
— Essa tua mania vai acabar mal, muito mal. Em troca, só recebes é pontapés. Depois não quero perder meu tempo em ver uma baboseira daquela. Vi muito teatro, o senhor teatro em Belém. Tu bem sabes, Lucíola, que minha mãe vestiu muita artista de Portugal no Teatro da Paz.
Falava alto, para que Alfredo se doesse e ao mesmo tempo desesperada, porque depois da morte da mãe não pudera nunca mais ir a Belém. Se desabafava contra o menino, contra Lucíola, contra o espetáculo. Revia as noites da cidade quando entrava no Teatro da Paz, deslumbrada com a iluminação, os chapéus das senhoras nos camarotes, os leques e os binóculos, as costas nuas das moças nas poltronas, o luxo dos cenários, o alinho dos cavalheiros, a declamação dos artistas no palco. Pôs-se a chorar devagarinho como uma menina, repetindo “baboseira, baboseira”, o que fez Lucíola volver-se para ela, o rosto no punho da rede da irmã, sem saber o que falar.
Alfredo estava de bom humor naquela noite e a sua felicidade confundia-se com a ausência de amor próprio. Que Dadá chorasse. Onde estaria Andreza? Se ela o visse entrando no teatro, seria ótimo. Gostaria de ver os gulosos olhos dela cheios de inveja. Com es entradas no bolsinho da calça, tornou-se impaciente, como se já estivesse com aquilo fazendo uma homenagem a Lucíola. Ia ou não ia?
[162] No entanto, novo obstáculo, Didico chegara, pedindo jantar. Lucíola intimamente praguejou contra o irmão. Pois então vinha das casas de suas excelentíssimas raparigas, uma, duas, três, espalhadas em Cachoeira, e não lhe davam jantar? Pôs um avental e segredou ao menino que “não demorava”.
Foi o tempo necessário para Alfredo acariciar o pé de cravo que ela plantara em nome dele no jirau das plantas junto à janela lo lado. Andou pelo corredor onde se penduravam, na parede, vários objetos tão inúteis quanto necessários a uma casa velha, apetrechos do boi-bumbá, restos de vestimenta de Didico quando brincava de vaqueiro real, uma maçaneta de bombo, o pistão recurvo azinhavrado, folhas de almanaques e anzóis, a tanga de índio, i cabeleira da filha do coronel do “Caprichoso”, um pedaço do rapa da França.
Observou o estado da casa velha. Como que nascera assim, á velha e inacabada especialmente para Lucíola, com o seu ar de caruncho, a porta e a janela da frente de parede rachada e encardida que, à noite, lembrava o rosto da moça. Na sala, o forro havia ;ido desmanchado porque ameaçava ruir, os cartões postais, colá-los à parede extinguiam-se, ou deles fugiam os panoramas e as pessoas. O S. Sebastião da estampa, com apoio na mesa, onde folhetos de modinhas e cadernos de música cobriam o violão do Didico, ostentava o seu martírio. Só na sombra, S. Expedito tinha para o menino uns jovens olhos compassivos em que se refletia talvez o olhar antigo de Lucíola, a súplica de suas orações, o segredo de sua vida. E sobre o santo, enroscada no esteio da cumeeira, dormia a jibóia, cria de Didico, para caçar os ratos.
A casa velha parecia arquear-se cada vez mais com aquele quarto escuro onde Dadá sufocava os soluços no lençol e aquela sala de anta com o fogão a um canto, junto do qual havia o poleiro das ;alinhas, a tarrafa estendida, jazia a almofada de renda e uma velha talha que guardava enfeites do “boi”, o barquinho de pau já sem vela, sabugos de milho e um feixe de penas de guará. Era essa a casa, guardada por uma jibóia, onde Alfredo passou muitos dias de sua primeira infância e inspirou a Lucíola tão estranho sentimento maternal.
[163] — Vamos. Está na hora.
Alfredo descobriu que o penteado de Lucíola era perfeito. Na rua, teve a impressão de que ia ao teatro em companhia de uma linda moça metida naquele gorgurão tão vistoso.
— E então queda que me trouxe mais os cadernos. Você me disse que logo que enchesse os cadernos da escola e não servissem mais, me trazia pra mim guardar.
— Ah...
Ela gracejou:
— Tu chegaste, tu vieste, tu deste.
Alfredo compreendeu: queria dizer que uma pessoa não cumpriu o prometido.
Chegaram à casa de Lili, onde se instalava o teatro. A entrada, o farol de carbureto entre os velhos e manchados cartazes, constantemente apagava.
Na sala de jantar onde se realizaria o espetáculo, Alfredo viu ó palco aos fundos que lhe lembrava um pouco o altar da capelinha do seu Bibi Gonçalves. Reconheceu, misturadas e em fila, cadeiras da Intendência, o sofá do promotor, bancos da Delegacia, mochos de pele de jacaré da d. Violante. Junto à parede, uma cadeira de embalo como se fosse um camarote.
Conseguiram a custo dois lugares juntos. Ao lado do palco, Lili, uma morena roxa, agora alva de pó de arroz, se derretia toda para um estrangeiro alto, de cabeleira ruiva, o rosto pintado como uma mulher. Lucíola fez um muxoxo de desaprovação e desprezo. Lili exibia a vaidade de filha do dono da casa onde funcionava o teatro. O pai, o seu Brito, barbeiro e suplente de juiz substituto, outrora criador de gado, vítima dos Menezes, conservava aquela residência como se estivesse enterrada ali a fortuna perdida. Ainda havia vidraças nas janelas, forro na sala, reboco nas paredes, vestígios de pintura e bicos de carbureto. Apenas no corredor o tabuado cedia e o portão sob um pequeno alpendre desconjuntava-se sobre a calçada de tijolos partidos e onde os presos na faxina da capinação gostavam de amolar os seus terçados [164] e foices. Lili exagerava diante dos assistentes a sua intimidade com o pessoal da companhia, o seu conhecimento acerca dos preparativos do espetáculo, com uma suficiência que irritou meia casa.
Os rapazes dando-se a ares de cidade, batiam os pés no soalho, reclamando o início da função. Representavam ali também o papel de espectadores. Nesse instante, entrou na sala um periquito que voara da cozinha, arisco e arrepiado. Alguém falou alto que era o primeiro número da companhia. Lili ao apanhá-lo, excitada e encabulada quase o esmagou soltando-o no colo da mãe. Enquanto isso, sucedia um começo de discussão à porta da casa. Seu Brito acorreu com a filha atrás. Parentes de seu Brito, trazendo cadeiras e banquinhos, exigiam entrada de graça. Lili coçava a cabeça, falava ao pai, ao mesmo tempo olhava-se no espelhinho que trazia embrulhado no lenço. Por fim, seu Brito, calmo, a mão na gravata, fez os parentes rodearem o quintal e entrarem pela porta da cozinha de fundos para o rio. A sua mulher, as crias de casa e a parentada apertavam-se no corredor e à porta do primeiro quarto, espiando como se estivessem no sereno. Lili atirava uma flor por cima da platéia para o artista de cabeleira ruiva.
Alfredo recolheu-se numa expectativa em que vinham as lembranças do tenor Frontino pedindo, depois da audição, um escalda-pés no chalé, conversas do pai sobre óperas e companhias portuguesas, pastorinhas, cordões joaninos e circos descritos pelo Bibiano Coimbra, o canoeiro. Ouviu-se uma pancada. O primeiro sinal. Espectadores reclamaram a ausência da orquestra.
Lucíola fingia naturalidade, exibindo aquele “filho”, mais curiosa dele que do espetáculo. Como estava crescendo. Que feições de moreno delicadas. Sorria menos pelos lábios que pelos olhos. Os cabelos não puxavam o pixaim da mãe, mas o cabelo do pai.
A segunda pancada.
A terceira.
O pano subindo, lento, com dificuldade, rangendo, até que apareceram umas cortinas desbotadas, o fundo azul, o teto de papel. A cena, um homem jurava matar o amante de sua mulher. Derramou longo recitativo que o ponto ia soprando e isto fez os espectadores da primeira fila reclamarem:
[165] — Por que não decorou o papel? Assim também até eu. Até um de nos.
— Cala boca. Nunca viu teatro, seu burro? Isso aí é o ponto, ignorante.
— Ignorante se fosse criado na casa de teu pai, Belarmino. Tu estás acostumado a ver teatro é na proa da montaria, tarrafeando.
— Aprende que isso aí é o ponto. Me paga depois o mata-bicho pela lição.
O ator esperou silêncio para continuar. Por fim, surgiu o amante; violento diálogo, tiros, o amante cai e se ouviu um aparte da platéia dizendo que o tiro era de pólvora seca.
— Queria ver era o tiro de verdade. Bala.
E desceu o pano.
Houve um movimento à porta da entrada, era a música que chegava, enfim. Luiz Peru, fumo no braço, a flauta e os papéis de música debaixo do sovaco, tentava ajeitar os óculos, suando de impaciência e de atraso. Houve uma salva de palmas e assobios esparsos. A orquestra, que se colocou nos bancos da frente, fez uma abertura de afinações e rompeu a marcha, a invariável marcha com que Luiz Peru começava os bailes, tocava nas festas cívicas e jantares de aniversario. A seguir um choro e o pano desta vez subiu rapidamente para o número do mágico, justamente o estrangeiro ruivo, que falava com Lili, de quem recebeu a flor. De saída, engoliu quantidades de fogo.
Alfredo viu, surpreendido, a cartola alta, negra e lustrosa, do magico. Dela voaram pombas brancas, metros e metros de fitas, cartas de jogar, um vestido de Lili, um véu longo de gaze, uma touca de criança. O ruivo, rosto pintado, voz grossa e sonora trabalhava com máxima superioridade e desdém sobre a platéia, o olhar de cima, mágico por inteiro.
Finalmente, sob palmas, para o efeito cívico, tirou da cartola uma Bandeira do Brasil, emprestada da Intendência, a nova, que só era hasteada em feriados excepcionais.
O outro número dos cômicos divertiu a platéia pelo apimentado das pilhérias. Lucíola, sufocando o riso, resmungava “sem-vergonha”, um tanto embaraçada. Alfredo estava, afinal, [166] escutando aquelas inconveniências. No número da pedra sobre o peito do homem montanha, a platéia admirou a novidade. Com o aparecimento de um ator vestido de mulher e cantando uma ária, a platéia prorrompeu em assobios.
— Isso é frescura. Fresco!
O pano desceu para subir novamente agora com a palavra do chefe da companhia:
— Não podemos continuar o espetáculo. Ou a digna platéia sabe comportar-se ou terei de encerrar por hoje o espetáculo.
Ouviram-se protestos, cortassem o número, novos assobios, um soldado de polícia ergueu o boné, o chefe da companhia fazia gestos do palco para o seu Brito que, com as mãos espalmadas, pedia ordem. O chefe da companhia voltou a dizer qualquer coisa áspera que os espectadores da primeira fila ficaram de pé, erguendo os punhos para o palco. E começou a subir, forte, em toda a sala, um cheiro de pimenta-do-reino.
Principiaram a dar espirros e lacrimejar, o pano desceu, rapidamente, ao som da orquestra que tentava abafar a confusão com uma valsa. Sob a pressão da pimenta-do-reino, já insuportável, a platéia se levantou desordenadamente, evacuando a sala.
Lucíola, de olhos ardendo, segurou Alfredo pelo braço, comprimida pela massa que enchia o corredor, o soalho estalava e baixava. E invadindo o palco, os rapazes rasgavam as cortinas, pisavam na cartola mágica; soltaram as pombas brancas, cobriam-se com o véu, assaltaram o guarda-roupa da companhia, espalhando pelo quintal, pela beirada do rio e pela rua a toilete do ruivo, os trajes dos atores trágicos e as máscaras do número final que era uma cena entre Colombina e Arlequim.
Na saída, Alfredo deu com um homem de rosto pintado, cabisbaixo e de cócoras à margem da vala e do tumulto. De mangas de camisa, e cigarro apagado, tristíssimo. Era precisamente o mágico, tão diferente daquele que reinava, tirânico, de cartola e casaca, meia hora antes. Viu-lhe o alheamento, o bocejo, tão despojado de tudo, com a vulgaridade de um qualquer homem e a desvantagem a mais: tinha sido mágico.
Magoada pelos empurrões, protegendo o menino, Lucíola [167] falava sobre o “derradeiro grau a que chegava Cachoeira”.
— Não respeitam mais nada.
— Mas aquele homem foi muito bruto, nhá Lucíola. Foi.
— Pimenta-do-reino, veja! Assim eles fazem quando querem abar festas dos outros. Assim. E isso já se dá até nas ladainhas. Alfredo, divertido — apenas intrigado com a tristeza, a apatia daquela sombra a que ficava reduzido o mágico — achava que o espetáculo da vaia e da desordem fora melhor que o espetáculo e impacientou-se com o comentário de Lucíola. Como Andreza gostaria daquilo! Que pena não levar Andreza. E ouviu adiante o grande riso conhecido: era o tio Sebastião ao lado da Adelaide, mordido pela formiga taoca.
Não quis entrar para comer o filhos que Lucíola lhe guardara.
— Que vexame é esse de ir embora, Fredinho...
Escapou bruscamente das mãos dela, correndo para o chalé.
Lucíola debruçou-se no parapeito da cozinha olhando para os campos, sob o choque daquela desfeita. Fugira dela como um daqueles rapazinhos que meteram o pé na cartola do mágico. Estava contaminado.
Desceu para o quintal, parou diante do velho cajueiro do qual tirava quantos e quantos cajus para ele. A emoção de levá-lo e de estar com ele em presença de tanta gente, o esforço de protegê-lo no atravancamento do corredor, o medo de vê-lo machucado, a rude despedida do menino, o eco das palavras de Dadá, o cansaço e agora a solidão deixavam-na esgotada.
A lua se desenrolava das nuvens grossas e baixas e lavou a parede da casa grande do coronel Bernardo. Que faria de sua vida? Em que a empregaria, afinal, sentindo mais do que nunca que era uma mulher madura? Não queria casar com qualquer homem e não tinha ao menos a atração da Lili, por exemplo. Poderia ter viajado, ficar em Belém nalguma loja de modista, confeccionando chapéus. Seria boa costureira, especialista em roupas de criança —não aprendera tanto nas roupinhas do Alfredo?
À beira do telhado, reluzindo sombriamente no luar, a jibóia tinha a cabeça erguida. Lucíola espantou-a, como se a cobra estivesse ali sabendo-lhe os segredos.
[168] Como dedicar-se a um objetivo, a um verdadeiro sentimento, a uma coisa que lhe enchesse os dias na casa velha? Restava-lhe unicamente aquela dedicação ao menino? E este ignorava ainda a razão daqueles “papéis” que a mãe fazia. Que artes, que segredos ou maneiras teria de aprender para atraí-lo novamente e desta vez substituir a mãe que já lhe faltava? Todas as vergonhas do chalé espalhavam-se em Cachoeira e ele, por incompreensão absurda ou por um orgulho incrível na sua idade, não queria ver, não queria acreditar.
Sem sono, lhe deu vontade de ficar contando os flocos de nuvens que passavam pela lua e de caminhar um pouco até o rio. Que não diriam depois, se a vissem assim, àquela hora, e de gorgurão branco. Estaria virando visagem, com a jibóia enrolada no pescoço, esperando homem. D. Amélia, talvez acordada, bebendo no escuro da cozinha como uma feiticeira, falaria que estava tecendo algum malefício para tomar-lhe o filho.
A jibóia desceu e estendeu-se no soalho. Lucíola apanhou-a, a cobra escapou enrolando-se na escada da cozinha, abandonada ao luar, como à espera.
Até a jibóia a repelia, pensou Lucíola.
Também bruscamente Alfredo se afastou de Andreza porque dr. Bezerra prometera a major Alberto que conseguiria o colégio, pelo menos daria uma ajuda ao embarque dele para Belém.
Ao comunicar-lhe a notícia, com a voz pastosa, d. Amélia balanceava o corpo, com a alça da camisa caindo-lhe pelo braço, o que nunca antes sucedia, observou o filho.
Dr. Bezerra partiu, passou-se uma semana, outra, nem uma carta. Depois Bibiano chegou com a novidade: o intendente recebera um chamado do Rio e teve que embarcar. Major Alberto trouxe a confirmação do fato, sem nenhum comentário. Ao perguntar à mãe, por que não viera uma resposta, uma satisfação por parte dele, uma linha sequer sobre a promessa, D. Amélia que se encontrava bem, lhe disse com um sorriso calmo:
— Ora, meu filho, você já viu essa gente se interessar que [169 pobre estude? Mas nem que eu vá lavar roupa em Belém... você vai. Pela primeira vez, em Alfredo, se fazia mais ou menos clara a presença de uma luta surda, muitas vezes disfarçada, mas irreparável, entre as pessoas ricas, tão poucas e as pessoas pobres que oram sem conta. Até então se julgava do lado das pessoas ricas, inclinado a ser uma delas ou pelo menos protegido, porque seu pai, embora pobre, tinha instrução, era secretario, servia ao intendente. Sua mãe mostrava-lhe uma realidade inesperada, acima das suas soluções de menino, da magia de seu faz-de-conta e o lançava entre os moleques, quase seus semelhantes agora. Ficaria entre os pobres, ao lado dos tios negros ou ao lado dos ricos, recebendo do dr. Bezerra promessas e promessas até o fim?
Franziu a testa, pôs-se a torcer as pestanas, sucumbido. Esse conflito mergulhou em sua consciência como uma semente, que deveria germinar muito tempo depois.
Sem ter resistido ao segredo, confessou a Andreza a próxima partida. Por isso se via agora humilhado, logrado, e, sem querer, com ódio também a menina.
Andreza, que lhe sentia os modos bruscos na invariável negativa para atravessarem o rio e procurarem abelheiras ou ovos de passarinhos nos campos da outra margem, resolveu vingar-se, ao estar certa do adiamento da partida. Entre indiretas, alusões, elogios ao intendente, referencias à chegada desta ou daquela lancha, de filhos de fazendeiros que estavam nos colégios (até mesmo inventava), não lhe deu tréguas.
— Então, seu convencido, que tal o colégio? Estou vendo o sr. Alfredo da Perna Seca ali na aula. Que colégio! Um palácio. Lá vai ele pro museu, lá vai elezinho pro bosque, lá vaizinho pros cavalinhos do largo de Nazaré, lá vai tirando dinheiro do bolso para comprar um papai-mamãe... Me leva, sim, Alfredinho, nem que seja como sua criadinha, sim? Me leva... Ara, me mandazinho um cheiro desse teu colégio...
Ele disse o nome da mãe dela, Andreza atirou-lhe um caco de telha, quase o atingiu na cabeça. Então o menino avançou e os dois lutaram ao pé da vala. Ela era mais ágil, pernas fortes, [170] sabia apoiar-se no chão e sustentava o peso dele a ponto de fazê-lo rolar várias vezes.
Subitamente o ódio da menina se esvaia em meio da luta em que podia sair ganhando. Deixava-se dominar, apanhando no rosto, nos braços, no nariz, começou a chorar numa tentativa de escapulir, protegendo o rosto com as mãos que tremiam. Ele parou, arquejante. Seu ódio estava inteiro. Nisto, apareceu Sebastião que desapartou. Uns moleques, que espiavam de dentro do algodoal, gritaram:
— Seu Sebastião, o senhor então já é jacamim que vive desapartando briga? Deixe...
— Vou cuspir na tua cara, sua sem-vergonha.
Ela, de cabeça baixa, assoou-se e mostrou o sangue das mãos. As lágrimas desciam, sujas, pelo rosto empoeirado e suado. Os olhos levantaram-se num viscoso movimento de areia gulosa...
Alfredo segurou-lhe o braço, apertou-o fortemente para que ela gritasse, o que não conseguiu e a levou para a beirada. No trajeto, os dedos foram afrouxando, os moleques assobiavam, apenas um ou outro soluço perturbou o silêncio em que caminharam.
A beira do rio, num trecho pedregoso, ele colheu a água na concha das mãos e lavou o rosto da inimiga. Com a ponta do vestido dela enxugou-lhe o nariz, os olhos, a testa, silenciosamente. Em seguida, sentou-se de costas para ela, com algum medo, vontade de fugir dali, vergonha ao pensar que poderia ter apanhado, remorso porque se lembrava que a mãe dela estava morta e talvez algum moleque fizera o mesmo com Mariinha.
Uma voz batia-lhe na consciência: dar em mulher, dar em mulher! Ao mesmo tempo vinha-lhe lá de dentro um afoito convencimento de homem.
De repente, Andreza caiu em choro solto de criança. Ele voltou-se. Esperou que ela se acalmasse. Andreza chorava mais alto ainda.
— Não chora, isso passa. — Disse ele, surdamente.
E brando, agora convicto de que havia ganho a luta com as próprias forças e limpando o seu coração naquelas lágrimas:
— Quem também te mandou atirar um caco daquele na mea [171] cabeça, hein? Se pegasse aqui na fonte? Pá, casca, eu morria.
Andreza, então, mudou, e aos poucos foi puxando conversa, mostrou que não escorria mais sangue no nariz, foi contando que o seu tio andava muito doente. Disse mais que fora uma vez surrada por uma cobra cutimbóia (mentira), ferrada por uma arraia (verdade), mordida de piranha, acutilada por uma pedra que um macaco lhe atirara no alto Arari. Falou da esperança de encontrar seu irmão desaparecido. Desejava furar as orelhas para enfiar os brincos. Perguntou-lhe por que era tão mansa a jibóia da casa de Lucíola a ponto de Didico e a irmã levarem a cobra ao colo.
— Tu já viste a jibóia no colo dele, hein, Alfredo?
— Já. Didico cria essa jibóia há muito tempo. Mansinha. Disque é pra dar sorte. Come os ratos. Papai não quis uma no chalé por causa de Mariinha. E mesmo ela podia mamar nos peitos da mamãe dormindo.
— E tua mãe podia furar meas orelhas?
Ele acenou que não sabia e com isso se separaram para três dias depois combinarem atravessar o rio, em busca de ovos de pássaros nos campos da outra margem.
Já no meio do rio, no casquinho pilotado pelo Manuel Judas, Andreza revelou ao ouvido de Alfredo o que fizera horas antes.
— Uma vez tu disse que havia de jogar n’água as chaves do seu Secundino, não foi?
— Foi.
— Pois eu joguei.
Alfredo, que escoava, com um pedaço de cuja, a água do fundo do casco, ergueu a cabeça, a boca aberta, temeroso que Manuel Judas tivesse escutado. Andreza não ocultava o seu temor, embora continuasse a sorrir.
O piloto cortava a correnteza do rio na vazante, os dois em silêncio esperavam, impacientes, encalharem na beirada. Alfredo não via os fundos da rua, a velha varanda do coronel Bernardo, trapiches velhos, sentinas e banheiros, bandas de pirarucu nas varas, roupas estendidas como tripas das velhas casas. Não via nada, [172] via Andreza atirando as chaves no rio.
Já no campo, depois que deram duzentos réis a Manuel Judas, Andreza contou como foi que botou n’água as chaves do carcereiro.
Viu chegarem novos ladrões de gado. Pela fisionomia deles, marcas no rosto, rasgões na blusa, Andreza compreendeu que haviam sido espancados. Foram conduzidos ao xadrez como bois na caiçara para o embarque. Ouviu-se o estrondo da porta fechando, o ruído ferrugento das chaves, a tosse do seu Secundino.
Andreza deixou passar um tempo e foi espiar pelas grades. Estavam atirados a um canto, dormindo. Cabeludos, sombrios, deveriam feder. Eram cinco. Um deles abriu os olhos e deu com a menina. Ficou uns segundos piscando, levantou-se. Andreza reconheceu-o, um primo, o filho da finada tia Veridiana.
— Custódio... tu preso?
Custódio veio até as grades, como se arrastando. De repente, num gesto de raiva sacou a camisa e mostrou as costas chicoteadas. E disse, numa voz cansada:
— E parece que estou rendido.
Ela queria responder: mas furtaste. Mataste gado que não era teu.
Com as mãozinhas nas faces, sentiu um enjôo, um aperto na garganta, um desejo de inocentar aquele primo que vira na fazenda tão esperto, saltando sobre poldros mais ariscos, fazendo recuar com seus gritos as reses brabas. Não sabia bem o que era ficar rendido, mas via o primo se arrastando, voltando para a esteira com muita dificuldade, amparando-se pelas paredes. Lembrava-se lo pai. Seu pequenino ódio cresceu contra aqueles brancos que mataram seu pai, que levaram seu irmão, que agora prendiam custódio.
— Vai. Vai-te embora, antes que te prendam — disse ele. Agora me mandar pro S. José. E lá vou morrer de bicho. Podre de bicho.
Andreza volveu ao seu pardieiro onde morava e saiu com um embrulhinho de café, dois torrões de açúcar; foi à padaria, e se aproveitando do cochilo do velho Antonio Português, furtou-lhe [173] três bolachas da barrica. A medo, olhando para todos os lados, acenou para Custódio. Seu Secundino deveria estar próximo, pois se ouvia a sua tosse.
— Deixo aqui, reparte com eles.
Fugiu para a beirada onde se demorou fingindo que escolhia pedrinhas lisas e veio espiar novamente.
Cismando sobre os furtos de gado, as costas esfoladas do primo, o horror daquela prisão de Belém onde se morria de bicho, Andreza reparou que seu Secundino já estava sentado no mocho, à porta do corredor que se comunicava com o do xadrez, cochilando. Eram duas e meia da tarde. O velho tossiu um pouco mais, resmungou qualquer coisa, as mãos caíram e adormeceu.
Pé ante pé, Andreza se aproximou dele, não viu as chaves. Circulou o olhar pelas paredes, namorou as gavetas da mesa, ate que avistou o molho num banco atrás de uma moringa.
Eram cinco grandes chaves que pesavam. A menina lembrou-se de Alfredo. Primeiro quis trazê-las ao menino, depois entregá-las a Custódio.
Ansiosa e em confusão, com um princípio de terror, tentava persuadir-se de que seu Secundino dormia mesmo, não a espreitava. Aguardava o momento para apanhá-la em flagrante e atirá-la na prisão das mulheres? Os ladrões, na certa, acusados de a terem mandado furtar as chaves, novos espancamentos sofreriam. Para ela seria aquela grossa palmatória da delegacia, bolos nas mãos, na palma do pé, na mesma hora entregue às Gouveias, mestras cm maltratar órfãs e mandá-las depois como encomendas para outras malvadas em Belém. As pernas começaram a tremer, voltou a depositar as chaves no mesmo lugar, correu para as grades, os homens continuavam adormecidos.
Que fazer? Teria coragem? Refletiu, o tempo passava, veio-lhe a esfumada recordação do pai estendido junto dela, o rosto esfolado, num fio de sangue coalhado no peito, que escorreu do furo da bala.
Avançou sobre as chaves, apanhando-as rapidamente e parou diante do xadrez e dos olhos do carcereiro que roncava de boca aberta. Assobiou baixinho e do modo como as moças assobiam [174] para um rapaz.
— E asneira, prima, pra que serve? — falou-lhe baixo Custódio. — Eu só me arrasto.
Andreza fitou-o num desapontamento e com vontade de gritar: frouxo, frouxo! com aquelas chaves pesando-lhe nas mãos. ouvia a respiração do primo que enfiava os dedos pelos cabelos crescidos e duros.
Compreendeu afinal que eles estavam perdidos, seriam pegados mais cedo ou mais tarde. Por isso seu ódio voltou-se contra as chaves. Aqueles ladrões morreriam podres de bicho. Mas as chaves, essas lhe pagariam, ah, que pagavam, pagavam... E atirou-as ao rio.
Em casa, a ponto de ter um passamento, deitou-se na esteira, pois rede não tinha, o que ocultava a Alfredo. Cerrou os olhos procurando alívio. Seu Secundino viria com a palmatória, ela teria de confessar diante do tenente. Os próprios ladrões a denunciariam.
Aos poucos uma satisfação lhe tirava os receios, a de contar tudo a Alfredo. Este interferiria junto ao pai e mesmo Alfredo sempre desejou, como lhe dissera uma vez, atirar aquelas chaves no rio.
Agora no campo da outra margem, Alfredo lhe observava que, sem as chaves, os presos ficariam encarcerados durante grande tempo.
— E não podias abrir o xadrez?
— Como? Mea força não dava. Depois seu Secundino podia ouvir...
À procura de colméias selvagens, pulando na ponta dos aterroados, varando as restingas, Alfredo aprovou em silêncio o gesto da amiga.
Pôs-se a rir ao pensar que seu Secundino, naquela hora, estaria procurando as chaves, tossindo, tossindo.
— Arre, velho, arre... Disse, então, alto.
Riram, indiferentes ao tempo, convencidos de que Manuel Judas os enganara ao indicar aquelas baixas como lugar de ovos de pássaros e de abelheiras.
[175] Sentada num galho de pitombeira, Andreza planejava afastar-se um pouco mais da beirada, temendo possíveis perseguições por parte do tenente. Se Custódio dissesse? E assim resolveu atrair o amigo para uma excursão um tanto longa e audaciosa: irem à Mãe Maria. Duas horas a pé. Alfredo concordou. Estavam contentes da vingança, as chaves se afundavam no lodo do rio, nunca mais seu Secundino as encontraria.
Mas, de repente, Andreza perguntou:
— E o ferreiro? Ah, ele faz outras... Não?
Alfredo não respondeu logo. Viu a toca em que se enfurnava o velho Bento, aquele espanhol perdido em Cachoeira, um ar de velho e maltratado santo de deserto, ao clarão da forja e faíscas bigorna, batendo, batendo.
— Ele faz, sim, confirmou.
Caminhavam tristes, outras chaves ocupariam as mãos de seu Secundino. Passaram a correr à frente de uma vaca que os ameaçava, avançando sobre eles. E se desviando do gado, abaixavam-se pelas moitas, ziguezagueavam, fazendo medo um ao outro, evocando mãe de fogo mostrando imaginárias cascavéis, seu Secundino tossindo atrás.
Nisto, Andreza deteve com o braço o companheiro e apontou: Sentados no chão, atrás do boi deitado à sombra de um muricizeiro, estavam um homem e uma mulher. Correram para lá e reconheceram Raul e Celina, ambos já de pé, surpreendidos, o boi, na mesma posição, ruminava, indiferente.
Alfredo reconheceu o boi. Era o rosilho do mestre Afonso, grandão, chifres serrados, que carregava barril d’água do cata-vento e conduzia moças e meninos nos passeios pelo campo quando não havia ainda o arame farpado do dr. Lustosa. Também era boi marrequeiro, guia de gado que atravessa o rio, velho boi, metia a cabeça pela porta de casa e só faltava falar.
Raul, afeiçoado ao rosilho, sempre desejou adquiri-lo. Nele montava, cruzando o rio, levava-o para a outra margem. Tinha muitas pinturas dele. Agora o animal estava ali deitado, abanando o rabo, cúmplice daquele namoro proibido. Junto, a sua obra fresca, verde, como um bolo. Atrás, os dois assustados. Ela vestia [176] uma chita de riscos azuis, larga fita cor-de-rosa no cabelo, chinelas nos pés. Alfredo lembrou a noite de São Marçal. Esta Celina era bem diferente daquela. Tinha uma beleza magoada, quase culpada, que se desatava em lágrimas e soluços. Com efeito, a moça chorava. Tentava esconder o rosto no braço polpudo, caminhou um pouco, se falasse teria sido penoso, pensou o menino. Mais gaga ficaria. Raul, confuso, parecia irritado com os meninos.
— Isto é perseguição dos pais dela.
Alfredo, então, cochichou:
Foi o bastante para Alfredo se condoer inteiramente, lembrar-se de Clara, que se afogou, de Irene, que sumiu, de Felícia fugindo da cabana incendiada... Andreza tinha um ar de triunfo, apanhara-os, “estavam na sua mão”. No íntimo, caçoava da moça, com uma sutil crueldade de menina, desejando mesmo que os pais a encontrassem ali ao pé de Raul e do boi. Agora, sim, Celina lhe pagava.
Pois Celina, do alto de sua casa, daquela escada de cimento, olhava sempre de queixo empinado as pessoas que passavam na rua, principalmente menina descalça. Uma vez, Andreza tentou colher uma papoula entre as estacas da cerca vizinha. “Que estás roubando aí, pirralha?”, foi o ralho brusco de Celina, lá da janela. Que susto pegou Andreza, ferindo a mão na estaca, deixando a papoula intacta subir de novo no galho que a menina havia apanhado. “Mas tu me pagas”, jurou então. E agora pagava ou não pagava?
Agora a moça da calçada alta, da janela alta, estava rasa e chorona, em meio do cheiro da bosta de boi. Andreza estremecia de triunfo.
Alfredo, sem adivinhar os pensamentos da menina, desejava, isto sim, que os dois partissem de vez no boi rosilho, sumindo naqueles matos que azulavam tão longe. Raul aproximou-se dele e lhe pediu baixo, a mão no ombro do menino: “Bico, hein? Camaradagem, nem um pio por lá, hein?” Celina ergueu o rosto molhado e logo tentou enxugá-lo com a ponta do vestido. Andreza teve uma vacilação.
Raul fez o boi levantar-se, puxando-o pela corda e apertou a mão da moça que se afastou e seguiu sozinha. Dourada pelo sol [177] no rosto, entrecerrava os olhos, como se caminhasse adormecida. Os meninos viram a moça, ao lado de duas companheiras que cantavam, atravessando o rio numa canoa verde e branco, pintada pelo Raul. E ia de pé, muda, cabelo em desalinho, com um ar ainda assustado, mas feliz. Alfredo e Andreza não tiravam os olhos, entreolharam-se como apanhados de surpresa na mesma curiosidade e sorriam. Então a menina roçou os lábios pela orelha Alfredo que recuou.
— Abelha te ferrou, foi? — perguntou ela, quase ofendida. Próximos à Mãe Maria, Andreza disse que lá havia uma festa naquela noite.
— Mentira, Andreza, mentira.
A menina descreveu detalhes dos preparativos da festa. As pessoas que foram de Cachoeira. Conversas nos trapiches, nomes de montarias e músicos.
— Até me admira que Rodolfo não tivesse falado isso na tua casa. Ah, já sei, ele não apareceu hoje por lá, não foi?
Isto chegou a persuadir um pouco o menino. Ao chegarem aos currais da fazenda, era noite fechada, a casa grande em silêncio e às escuras.
Alfredo quis regressar no mesmo instante, sozinho, repelindo a companhia dela. Andreza protestou cansaço, ia pedir um gole d’água, demonstrou medo por causa das chaves. Debruçou-se nas trancas do curral diante da casa grande e principiou a descrever, em voz meio cantada, a festa que “via”: o salão cheio-cheio, pares arrastando os pés no soalho, o chiar de carne assada na cozinha.
— Tu não está vendo, Alfredo? Nem ouvindo? Olha bem, agora é uma valsa. Ah, pronto. O vento apagou a luz da sala. Olha... aquele moço mais que depressa deixou a dama, esperando que acenda a luz. E o padre Contente descendo a escada, levando uma dama pelo braço... Para onde vai? Um cheiro de comida boa... Pronto, acendeu a luz. Está vendo aquela moça ali na janela? Sou eu, vestidinha de azul, um laço de fita no cabelo, um buque de jasmins em no peito e estou cheirando... Pronto, um moço vai me tirar. Não quero esse. Quero o outro. Agora vou dançar, danço bem... [178] Olha, olha, o Custódio dançando... Agora é branco, é preto, é da gente se misturando na dança... Só Alfredo, coitadinho, está acima da porteira, serenando. Ninguém deixou ele entrar. Está m, está bem. Logo que eu acabe de dançar esta parte, venho iscar ele... Espere aí, um pouquinho, sim?
Com pedaços da lembrança de um baile de brancos visto numa fazenda do alto Arari, ia descrevendo e completando o baile que imaginava na Mãe Maria e assim retardava o regresso, receosa de aparecer, naquela noite, ao pardieiro do tio.
Por fim, descrito o baile. Andreza ficou inerte ao pé do menino. Fatigada, perdia o medo do regresso.
— Hum, estou cansada de tanto dançar, meu mano. E tu? Alfredo não reagia, um pouco embalado pela imaginação da menina.
A noite avançou, regressaram devagarinho, até que sentaram à beira do rio, esperando alguma embarcação passar. Alfredo olhava o chalé, encoberto um pouco pela Folha Miúda, e que deveria estar com a fisionomia carregada. Andreza falou de peixes, pediu um anzol, da outra noite em diante iria pescar no Arari.
Afinal anunciou uma história.
— Andreza, conta a história. Não inventa.
— Te juro que é. Um tripulante da “Lima Júnior” me ensinou. Escuta.
Ela deitou-se na penugem do capim que brotava do chão da beirada, os olhos nas estrelas, pernas estiradas, e contou, muito séria, num tom de cantiga:
— Era uma vez uma barquinha pequenina. Era uma vez uma barquinha pequenina. Era uma vez uma barquinha pequenina. Que não sabia, não sabia navegar. Passou uma duas três quatro cinco seis sete oito semanas. Passou uma duas três quatro cinco seis sete oito semanas. Passou uma duas três quatro cinco seis sete oito semanas e a barquinha não saía do lugar.
Como esta história está ficando muito chata, como esta história está ficando muito chata, como esta história está ficando muito chata, se querem outra, querem outra, vou contar.
Consertou ligeiramente a garganta e prosseguiu:
[179] — Era uma vez uma barquinha pequenina...
Alfredo soltou um ah, de encabulamento, afastou-se e começou a jogar pedras no rio.
Andreza conseguiu achar um “olho de boi” que a maré deixara entre as pedras soltas e exclamou:
— Vamos, rio. Quero saber quantos filhos vou ter. Jogou a semente que ricocheteou duas vezes na superfície da água.
— Dois! Dois!
E gritou de súbito:
— Olha, olha, a barquinha pequenina que vem nos dar passagem.
Era o casco do Pedro Camaleão que, à proa, se aproximando da margem, abria a tarrafa para lançá-la no rio.
E então Andreza teve um breve pressentimento de que a tarrafa poderia trazer, entre os peixes, as chaves do seu Secundino.
[180]
5
Ao subir do quintal, d. Amélia encontrou a filha abatida a um canto da varanda.
— Uai, salvou-se uma alma. Minha filha até estas horas sem cantar...
Rodolfo compunha os novos talões municipais. Mariinha pediu-lhe que prendesse a bola de papel no fio e passou a brincar, embora triste, com o gato Gutenberg. Sua mãe foi terminar o vestidinho dela na máquina de costura
— Major achou sempre o veneno para os ratos, d. Amélia? Voltou-se o tipógrafo, com o componedor cheio, e impaciente, os tipos estavam cada vez mais atrapalhados. Os A estavam no B, o corpo dez no corpo oito. Era distração do Major que, por sua vez, acusava o Rodolfo todas as horas, de transformar a tipografia “numa torre de Babel”.
— Hein, d. Amélia?
Mariinha apressou-se a dizer que “sim, achou”, caminhando para a saleta a indicar ao Rodolfo onde estava o embrulho do veneno.
— Mas, minha Nossa Senhora, quem te disse, como é que tu sabe? Por que diacho seu Alberto não escondeu noutra parte? Largue, minha filha. Rodolfo já sabe. Seu pai quer por força envenenar a casa toda.
Apanhou o embrulho da mão da filha e o escondeu na última prateleira de cima da estante.
— E ele entende de química, não, d. Amélia?
— Seu Alberto? Falou uma tarde inteira nessa palavra. Desta [181] quase não entendia nada do que ele disse. Pedi apenas que não se o veneno. Acabava botando veneno na comida, para experiência.
Rodolfo queixou-se da confusão dos tipos.
— Mas, Rodolfo, seu Alberto te culpa. Acha que tu não tens Todo o dia ele bate os pés aí com a torre de Babel. Diz que fazes um verdadeiro labirinto. E para melhor me explicar foi por gracejo buscar o livro da mitologia e me explicou o que era labirinto. Sei que compreendi que está aí uma atrapalhação toda. Imagine se vocês continuassem na teimosia do jornal. Ainda por cima, o juiz a reclamar a Prática das Falências. A letra A acaba na caixa do Z, não acaba? Amanhã quando pensares que estás compondo uma palavra, estás compondo outra. Acaba dando certo. E você, dona Mariinha, você não anda também compondo?
— Nunca, mamãe, nunca. Vi foi o gato.
O gato? O Gutenberg compondo? E, é, mamãe.
D. Amélia riu e pediu a opinião de Rodolfo sobre o porco.
— Quando se come o toucinho, d. Amélia?
— Ora, sei lá, seu Alberto é um ai meu Deus com ele. Parece até que foi ele quem criou e engordou. Ele diz que se for morto aqui, não sobra nem um pedaço de toucinho pra casa.
— Por quê?
— As aperreações do seu Alberto. Diz que dou tudo. Continuo a ser a Santa Casa de Misericórdia. Se ele visse o que é um hospital de caridade... Para estas coisas, ele é um purgante. Quando é pra cobrar a continha de uma questão de advocacia, coitado, vai sempre no embrulho. Passam a perna nele... Nunca se atreveu a ir com esse intendente e dizer: meu ordenado é pouco, sou o secretário municipal, tenho duas famílias, representação, preciso de aumento. Prometeu que ia dizer. Escreveu uma carta, hum, leu pra mim, um relambório, quase não diz o que quer. Tu mandaste a carta? Assim ele.
— Continua um filósofo, não, d. Amélia?
— Mas as filhas em Muaná pensam ainda que quem fica com o dinheiro dele sou eu. Talvez saibam como ele é, enfim. Mas [182] sempre desconfio. Mal sabe ele que quero apurar da venda do porco para ajudar a viagem de Alfredo. Preciso levar meu filho daqui, Rodolfo. Bem sei que um porco não dá nada. Mas vendo a Merência e a novilha. Se eu pudesse, voltava a armar meu tear e fazer umas redes. Estão dando muito dinheiro, não? Tinha que comprar os fios. Seu Alberto achava logo que só em fios ia todo o lucro.
Mariinha, que a escutava, foi à despensa, olhar as peças do tear desarmado. Chamou a mãe.
— Que é, minha filha? Os ratos?
— A senhora me disse que um dia ia fazer uma rede pra mim.
— Foi, minha filha. Nos bons tempos eu fazia. Não faço mais. Bem que podia sustentar meu filho no colégio, fazendo redes.
— Que é bom tempo, mamãe?
— Hum, filhoca, não sei explicar bem. Pergunte a seu pai. Bom tempo é quando eu fazia rede.
— Por que não nasci no bom tempo, hein, mamãe?
— Deixe estar que vou lhe arranjar um bom tempo.
— Então faça uma rede pra mim me embalar, faz?
— Pois bem, vou pedir a seu pai que me compre fio e assim posso armar meu tear. Mas me deixe acabar seu vestidinho. Vamos. Mostre sua cara aqui na luz. Espiche a língua. Você parece que amanheceu triste, não? Por que não cantou? Todas as manhãs, uma cantora. Por quê?
— Mamãe, não gosto de adoecer. Não quero ficar doente, pronto.
— E quem gosta?
— Alfredo.
— Alfredo?
— Ele adoece de vontade, chora na rede, passa hora chorando.
— Tu já viste ele chorando sozinho?
— Já, mamãe.
— Mas não é gosto de adoecer. Ele chora porque quer ir para a cidade. Ele tem razão.
— A cidade é grande-grande, mamãe? Como ela é? A senhora ,ode pintar ela pra mim? Tu me leva na cidade?
— E grande. Lá a gente estuda. Teu mano quer ir lá estudar. [183] E a senhora estudou lá? Seu pai estudou.
— E a senhora?
— Eu estudei cortando seringa, minha filha.
— E como era? A senhora me ensina?
— Deus te livre, filha minha. Deus te livre de uma seringueira.
D. Amélia puxou a filha para junto de si, os olhos no chão vendo as crescidas águas de março nas Ilhas que levaram seu primeiro filho.
Mariinha soltou-se e foi olhar à janela. Contemplou, com curiosidade, como se nunca tivesse visto, a parede escalavrada da casa de Lucíola sustentada por dois esteios. Teve um breve pensamento na jibóia. A jibóia e os ratos. O veneno e a jibóia. Alguns meninos jogavam pião na calçada da casa do coronel Bernardo. Ela tentou fugir para vê-los de perto e, se possível, jogar com eles. Desejou a presença de Andreza e sentiu-se sem ânimo para sair. D. Amélia deixou a máquina e foi à janela também.
São onze horas já. A sombra da casa do coronel Bernardo esta descendo na calçada.
Foi à cozinha destampar a panela da carne, passou duas vezes aponta do charuto nos dentes. Deu por falta do periquito, perguntou ao Gutenberg o que teria feito do bichinho. Mariinha subitamente pôs-se a chorar pensando que o periquito havia sido devorado pelo gato. O gato tinha os olhos amarelos, como se entendesse a injusta acusação. Por fim surgiu o periquito da despensa, beliscando um pedaço de banana. Gutenberg aí saltou sobre ele. Acudiu d. Amélia.
Mariinha ficou chamando a mãe para que fosse lhe medir na parede.
— Mas eu já te medi, minha filha. Tinhas dois anos. Olha a medida aqui na parede. Dobrada a medida que tinha aos dois anos, está aqui a altura que vais ter quando cresceres. Uma nanica. Vais ser do tamanho da Anésia. Mas a Anésia já voltou de Belém, Rodolfo?
— Não. Se empregou, disque. Empregada da Rocinha dos [184] Teixeiras, disque.
— Duvido que pare lá. Duvido. Um dia desses está aí saçaricando na rua das Palhas.
— Mas eu quero de novo me medir, mamãe. Agora me medindo, não fico mais pequenininha.
Sua mãe, rindo, tomou o fio de Gutenberg e mediu a altura da filha na parede. Dobrou a medida e disse:
— Está aqui o tamanho. Assim fica muito grande, Mariinha.
— Grande, grande? Do tamanho da cidade?
— Do tamanho da cidade, também não. Grande.
— Que bom. Fico uma Mariazona.
Mariinha estendia o fio, sem vivacidade, como se espreguiçando, o que não escapou à mãe.
— Mea filha, você não está boa. Não quer deitar um pouco? Espere seu pai que está pra chegar. Ou dói a barriga?
— Não, mamã. Quem gosta de doença é o Alfredo. Eu, não. Não tenho nada, nada.
Não queria ser pequena. Queria ser grande, grande. Guardou o fio de sua altura na caixa de sapatos onde também guardava a roupinha da boneca de pano. Se adoecesse voltaria a ficar menor do que era. Não, não ia deitar-se. Deitando, adoeceria. Foi à janela acompanhando o vôo de passarinho que entrara pela varanda e saíra para o quintal. Desceu, calada, com uma irritação crescente, lutando para não se deitar na rede. Sentou no soalho ao lado da Minu que começou a lamber-lhe as pernas. Gutenberg olhava a cena com o pelo arrepiado, a cauda em cima. A menina deixou-se ficar sob o agrado da Minu, o rumor da máquina de costura e o tic-tac do componedor de Rodolfo.
Foi quando entrou Andreza como um pé de vento. Descalça, um rasgão no ombro do vestido, os cabelos sobre os olhos, ofegante.
— Mariinha, te trago uma noticia mais bonita que aquela história da fada...
— Menina, vai...
— D. Amelinha, deixe primeiro vender meu peixe. Depois
senhora vende o seu.
— Apresentada, então, que enjoa. A linguagem dela é de gente velha.
— D. Amelinha, por favor, sim? Deixe venderzinho o meu peixinho, simzinho?
Sacudiu os cabelos diante de d. Amélia, os pés juntos numa graciosa reverencia. Contou a notícia. Era um passeio.
— Um passeio de gente grande. Há quem tome conta da gente. Eu, por minha parte, torno conta de Mariinha. A senhora, d. Amelinha, bem que podia ir. Nunca vai em parte alguma. Eu acho que a senhora não vai nos bailes, não vai nessas festas da “alta” porque a senhora não quer. Eu não estranho que a senhora seja dessa cor. Quando eu for moça vou fazer um baile só para a senhora. Para a senhora ir. A senhora ia de braço dado com o major Alberto. Dançavam. Que par, bem, d. Amelinhas? A senhora não é mulher dele? Não se casaram no juiz ou no padre? A senhora deixa agora a Mariinha ir? Eu tomo conta dela.
Calou-se, subitamente, mudando de cor, quando deu com Alfredo à porta do corredor. Este media-a de alto a baixo, pálido de raiva, na iminência de atacá-la. Andreza recuou para trás da maquina de costura. D. Amélia fingia preocupar-se com o refego.
— Pois bem, agora que vendi meu peixe, venda o seu, d. Amelinha, disse ela com voz alterada, os olhos em Alfredo.
— O meu peixe, falou d. Amélia, segurando-lhe a mão, é te mandar beber água para passar esse cansaço, menina levada. Suspende, suspende um pouco esse vestido — é um trapo a roupa dela. Três dedos de sujo nas pernas e no pescoço. Os joelhos, minha Nossa Senhora, os joelhos dela... pretinhos de terra. Vai, anda, beber água. Tu sofre é do coração, menina.
Andreza saltou para o corredor e parou defronte de Alfredo. Como ele estava de raiva, os beiços tremiam, observou ela. E fez um rosto de culpada que, por isso, a Alfredo pareceu lindíssima.
— Queres água?
— Não, seu mau, eu tenho mão pra tirar.
— Deixa que eu tire, sua... Não és dona desta casa. Aqui és visita. Aqui és uma intrometida.
[186] — D. Amélia, seu filho não quer que eu mate a sede — disse ela baixo — se nega a me dar um gole d’água.
Alfredo segurou-lhe os pulsos, sacudiu-os, dizendo, abafadamente:
— E por que disse aquilo pra mamãe? Por que vem ainda aqui? Aqui em casa, branca de tua igualha, suja, não bebe água. Te ponho daqui com a mão na cara, te atiro da escada abaixo. Tu não podes dizer aquilo, caçoando da mamãe, sua desgraçada, sua porca.
— D. Amélia — gritou ela — seu filho! E tentava retirar os pulsos das mãos dele, debatendo-se, até que dobrou os joelhos, silenciosamente, fazendo um ar de súplica e de choro, depois sorrindo, já sem medo, exalando aquele odor de menina suada, cheirando a tucumã e a poeira.
— Suja, não toma banho. Suja.
Ajoelhada diante do menino, deixando suas mãos nas dele, fitou-o com humildade e abandono. Era uma cara de marreca espantada, disse ele mentalmente com raiva e fascinado. Os olhos dela como que se iluminavam na sombra das longas e graúdas pestanas. De súbito, ela ergueu-se, sacudiu os lisos cabelos sobre ele e beijou-o na face. Alfredo, colado à parede, piscava, vivamente, para a varanda. Ela, com o rosto nas mãos, espreitava-o, por entre os dedos.
Encheu o copo na torneira do filtro, e quando se voltou para oferecer-lhe água, Alfredo havia desaparecido. Bebeu um gole, engasgando-se, tossiu ruidosamente e correu para a Mariinha que continuava no soalho, mole e encolhida.
— Que ela tem, d. Amelinha? Triste, não? Tão rolicinha que está... Parece que pegou foi quebranto. Mande d. Marcelina rezar nela.
— Quebranto é a tua cara, sua saçariqueira. Este demoninho. Tu sossega quando dorme?
— Sossego, sonho com a senhora.
Intimamente disse que sonhava com Alfredo, e se queixou:
— Não quero fazer enredo, mas quando fui beber água, Alfredo me apertou o pulso dizendo que eu tratei mal a senhora. Tratei? Olhe, se ficar roxo, a senhora paga a benzição de d. Marcelina, ouviu?
[187] D. Amélia não respondeu, dando movimento à máquina e logo parou para chamar a filha:
— Maria, tu não repara que a Andreza está aqui? Não falaste com ela?
Andreza, então, curvou-se sobre a menina e beijou-lhe os cabelos.
— Vou mandar d. Marcelina benzer essa menina bonita. Esse anjinho do meu coração. Não é, Maria de Nazaré Coimbra?
Voltando-se para d. Amélia, bateu o pé no soalho e exclamou:
— Quebranto comigo leva só um grito: Zás, diabo trás. Mas com Mariinha, eu vou curar o quebranto dela com uma história que nhá Lucíola me ensinou. Essa história tem uma história também. Ela havia aprendido de uma velha especialmente para contar pro Alfredo. Como Alfredo faltou, ela com raiva me contou. Me contou por pura dor de cotovelo. Foi o que Alfredo perdeu. Mariinha, quer ouvir? Aviso que não sei toda. Conto aos pedaços. É a história do cego e dos três filhos.
D. Amélia sabia a história, mal a mal. Ficou remoendo o que compreendia como intriga de Andreza a respeito de Lucíola. “Uma história especialmente para Alfredo”. Por que aquela moça casava, ao menos não fazia um filho? Neste ponto, admirava Irene. Bonita, barrigona, desafiando o mundo. Coitada da Lucíola. “Uma história especialmente para Alfredo”. E Andreza era uma menina que ia longe.
— Conta a história, vamos ver se vai contar direito.
— Ah, a senhora sabe... Não sei bem... Ela me contou, mas não sei dizer... Eu e Mariinha ficamos acomodadinhas escutando a senhora. Não se incomode que a senhora não cria rabo contando história de dia. Eu não deixo. Ó seu Rodolfo, não faça baruaí.
D. Amélia gritou pelo Alfredo que apareceu, silencioso e surpreendido: sua mãe contando história?
O menino sentou-se no tamborete. Andreza veio buscá-lo para sentarem perto de Mariinha. Ele franziu a cara e conservou-se no banco.
D. Amélia, na sua voz clara, de costas para o menino, [188] curvada sobre a máquina, ajeitando a bainha do vestido, foi contando que “era uma vez” um cego. Tinha três filhos. Mesmo assim cego, gostava de caçar. Um dia apontou a arma na direção de um galho onde estava uma pomba. A ave bateu a asa e falou:
— Não me atira que eu te ensino um remédio pra tua cegueira, meu velho.
O velho abaixou a arma.
— Então me ensine.
— Mande buscar a folha do lilás no palácio das águas e ponha nos olhos.
Alfredo perguntou que folha era essa de lilás. Andreza fez um chiu de silêncio. D. Amélia embalada com a narrativa, quem lhe teria contado essa história — meu Deus, ah... a Antônia Bandeira... Bem. O velho com a arma no ombro foi para a casa, cabeça baixa, pensando.
Andreza ergueu-se para imitar o velho: Andando assim, d. Amelinha, assim? A cabeça baixa?
— Espera! — foi o grito de Alfredo — cala-te!
— E contou para a mulher e os filhos, O mais velho então disse: Pai, vou buscar a folha de lilás.
— Ora, quem não ia? Perguntou Andreza. Mariinha com a cabeça no colo dela, tinha os olhos arregalados para a mãe.
— ... Pai, vou buscar a folha de lilás.
— Não vale a pena, meu filho, é longe...
Rodolfo interrompeu: o velho estava era fingindo, bem que ele queria. Velho safado.
— Mas até tu feito uma criancinha, não, Rodolfo — falou Alfredo que se aproximou da máquina de costura.
D. Amélia, com os olhos na costura, continuou: Pai, eu vou. E o velho então perguntou: Bem... Queres muito dinheiro e pouca bênção ou muita bênção e pouco dinheiro?
Aí Andreza interrompeu novamente a história e de pé, com as mãos na cintura, defrontou-se com Alfredo:
— Agora me diz, que tu queria? Muita bênção ou muito dinheiro? Me diz depressa que tua mãe não quer contar o resto. Não tenho força para evitar que ela crie rabo contando história de dia.
[189] D. Amélia esperou. Alfredo não respondeu e olhou para a mãe que compreendeu e não sabia por que ligava essa história à próxima viagem do filho e a certeza de que ele estudaria, seria o seu arrimo... Muito do pai, mas menos filósofo. Menos filósofo. De repente se lembrou da Marialva, a filha cega do Major. Falavam da chegada de um sábio estrangeiro em Belém, especialista em olhos. Major Alberto lhe falara em mandar a filha. Dependia de dinheiro. Vendesse o gado.
— Conte, d. Amelinha.
— Onde é que estava?
— Quando o pai perguntava ao filho mais velho se ele queria...
— Ah, sim. O pai perguntou se ele queria muito dinheiro e pouca bênção ou muita bênção e pouco dinheiro.
— Muito dinheiro e pouca bênção, disse o filho mais velho. A mãe preparou um balaio de comida e deu ao filho mais velho que foi-se embora. Quando passava por uma casa muito pobre viu lá dentro uma mulher, muito doente, com um filho feridento, com fome.
— Feridento, d. Amélia?
E o olhar de Andreza foi como uma agulha no coração de Alfredo, que sentiu as marcas de suas feridas se abrirem de novo nas pernas, sangrando. Viu as pernas de Andreza, manchadas de terra, sim, mas limpas de cicatrizes. D. Amélia não percebeu e continuou:
— Meu filho, disse a velha, que tu leva de comida?
— Só pedra, mea velha, mentiu o rapaz.
— Pedra há de ser, disse a velha.
E quando ele, cansado da caminhada, arriou o balaio e foi comer, a comida era só pedra.
— Arre, exclamou Andreza, e Mariinha tinha os olhos cerrados, escutando ou amolecida. Alfredo viu na viagem do rapaz a sua viagem. Muita bênção e pouco dinheiro. O dinheiro do porco e da vaca Merência. Muita bênção. Pouco dinheiro. Sentia a luta entre essas duas palavras. Bênção. Dinheiro. Sem dinheiro...
Sua mãe virou o pano, deu uma passada de charuto nos dentes. Olhou para Mariinha e indagou?
[190] — Quer mesmo se deitar, mea filhinha?
Mariinha, assustada, abriu os olhos. Não. Pediu com voz fraca que continuasse a história.
— Pedra há de ser, repetiu d. Amélia. E assim o filho do cego nunca mais voltou.
Passado tempo, o segundo filho disse ao pai:
— Já que o meu irmão mais velho não voltou, irei ver a folha do lilás.
— Ora, não vai, meu filho. É tão longe. A pomba me enganou.
— A pomba? Foi a pergunta de Andreza que escondeu o rosto entre as mãos, rindo. D. Amélia olhou o filho, sacudindo a cabeça, com dois dedos nos lábios para não rir também. E continuou enquanto Andreza se refazia e inclinou o ouvido atento, os olhos pregados em Alfredo.
— O segundo repetiu: Pai, eu vou.
— Então seja feita a tua vontade. Queres muito dinheiro e pouca bênção ou muita bênção e pouco dinheiro?
— Muito dinheiro e pouca bênção.
Aí Alfredo deu o seu aparte:
— Mas a besta não via o exemplo do mais velho? Ele não sabia que não podia ser muito dinheiro?
— Ora, Alfredinho, podia ser que o filho mais velho estivesse rico, rico, rico que se esquecesse de voltar. E o segundo queria ter a mesma sorte.
— Tu vais ver a sorte dele. A tua sorte, porque contigo acontecia também a mesma coisa.
— Tu sabe, tu sabe de mea vida? D. Amelinha acomode esse seu filho. Ele quer a minha infelicidade. A senhora já reparou nisso?
D. Amélia riu, esperando que a discussão terminasse.
— Bem, quando o rapaz passava pela dita casa, a velha perguntou o que ele levava no balaio.
— Espere, d. Amelinha, a mãe dele fez um balaio de comida também para a viagem, não? Então, espere: Faz de conta que sou a velha. Estou na porta da casa e vou arremedír a velha: “Meu filho, que tu leva aí de comida neste balaio grande?” Bem, d. Amelinha, pode continuar.
[191] — Só carvão, mea velha.
— Carvão há de ser, repetiu Alfredo antes que d. Amélia falasse: Carvão há de ser.
Alfredo associou a imagem do carvão a cor de sua mãe. Era ma velha comparação nascida do velho sonho em que via as mãos la como carvões. Carvão há de ser, repetiu mentalmente. Se tivesse ele nascido também da cor do carvão? Carvão era a morte dos dois filhos, era a viagem perdida. Quem seria aquela velha?
— Tal e qual como o mais velho — disse d. Amélia — o segundo filho nunca mais apareceu.
— Vendeu o carvão e ficou rico, acrescentou Andreza.
— O filho mais novo...
— Agora é o Alfredinho que entra na história, interrompeu Andreza.
— O filho mais novo ainda era um menino...
— Eu não disse que era um menino, que era Alfredo?
— Meu pai não é cego, sua miserável.
— Que é isso, meu filho, assim não conto a história. Que é isso. Mariinha, está escutando? Ai, ai, estou achando a minha filha mole-mole...
Mariinha fez-se um pouco mais esperta. Os dois se acomodaram.
— Bem, o filho mais novo respondeu: Pai, quero muita bênção e pouco dinheiro.
Os pais chorando abençoaram muito-muito o filho que partia.
— Os dois velhos ficaram sozinhos... lamentou Andreza. Mariinha concordou com um hum-hum de pena.
— Ao passar pela mesma casa, o menino apeou do cavalo, deu com a criança feridenta, tratou, pensou as feridas.
— Ele levava algodão e tudo? indagou Andreza.
— Repartiu com ele e a velha a comida do balaio.
A velha, então, ensinou o caminho da folha de lilás.
— Vá por esse caminho direito. Não se incomode. Se passar entre duas pedras, saberá que são duas comadres...
[192] A narradora deteve-se, sua memória falhava. Antônia Bandeira lhe contara essa história em Muaná e em que noite? Quando? Num velório ou num serão de tear?
E foi quando major Alberto chegou da Intendência.
— Credo. Onze e meia. Deus do céu! Queimou panela e tudo, aposto. Eis aí em que deu a folha do lilás.
E d. Amélia saiu correndo para a cozinha.
Major Alberto foi atrás e lhe disse que resolvera vender o gado para mandar a filha cega a Belém. A irmã dele lhe escrevera. Eram uns cinco contos de réis a operação e o internamento no hospital. A princípio, Marialva não queria ir. Tinha que vender o gadinho.
— Para quem?
— O Lustosa. Ele me ronda há muito tempo. Está comprando gado de todo o mundo. Ao menos, psiu, a gente experimenta. Dizem que é um sábio. Vai demorar uns 20 dias em Belém.
— E você não pode assistir à operação? Não pode embarcar?
— Não. A minha irmã vai, tem mais experiência. Marialva vai com a irmã e a tia. Amanhã...
— Mas, olhe, seu Alberto... Venda bem o seu gado. A bom, eu vou fazer primeiro o Sebastião avaliar com o seu Salu. Deixe por minha conta. E. Senão o dr. Lustosa leva o gado de graça.
Ficou só, na cozinha, com a convicção de que a filha cedo despertaria e certa, até orgulhosa, de que venderia o gado muitíssimo bem. Sorriu da história que não terminara. Muita bênção e pouco dinheiro. Como era compreensivo o olhar de seu filho. Tinha de combinar a viagem dele, mas esta dependia unicamente do porco, da mesada, porque o gado... Até a vaca Merência seria incluída na venda. Estava contente, pelo menos as filhas de seu Alberto não poderiam queixar-se dela. Do gado nem a Merência. Coitada da vaca! E seu filho andava convencido de que o apurado da Merência daria benzinho para comprar-lhe os fatos, os sapatos, os primeiros livros. Pôs-se a avaliar: as vacas em número de [193] nove, a duzentos mil-réis, cinco novilhas; dois garrotes; os quatro os bezerros. Ao todo apuraria uns cinco contos. Daria para a operação de Marialva. Teria resultado? Ou não seria uma crueldade para a cega, levando-a com aquela esperança e trazendo-a a mesma cegueira e sem o gado?
Pela primeira vez, julgou compreender que poderia lutar contra aquilo”. Sentia-se bem, “outra”, restituída àquela Amélia que assava perus, batia chocolate nos serões em que o Major fabricara e compunha programas. Sentia-se perfeitamente mãe de Alfredo e Mariinha. O chalé perderia o gado. Major Alberto, secretário da Intendência, passaria a ser mais pobre do que aparentava. Teria que lutar. Muita bênção e pouco dinheiro. Via-se no passado, de pé no chão, pretinha de joelho ralado de tanto subir nos troncos de açaizeiro... E agora, diante dela, o filho que queria partir, e queria muito saber.
Ergueu-se repentinamente e foi à despensa. Retirou a garrafa, quase cheia, atrás do armário, pendurada num prego da parede. Destampou-a, aspirou-lhe o cheiro, mordeu os lábios, virou a cabeça com fingida náusea e algum esforço para atirar a garrafa ao chão. Logo um débil desejo, a aguda sede de um golezinho só, a prova, a umidade da boca da garrafa em seus lábios secos. E no entanto, continuava negando, obstinada em dizer sempre, melhor, em ocultar sempre que bebia. Sebastião descobrira, apanhara um moleque, trazendo a garrafa. Mas o irmão não se atreveria a falar-lhe. Responderia com a mão na cara, o expulsaria chalé.
Naquele poço em que mergulhava, não tinha um confidente, apenas cúmplices. Marcelina, Inocência, os moleques e em breve, provavelmente, a Andreza. Traziam-lhe garrafas embrulhadas, nos enrolados nos sacos, deixadas ao pé da cerca, ocultas nas moitas de capim ou sob a palha seca. Uma vez, derramou a bebida no irrigador para não ser apanhada em flagrante pelo Major. Fingiu que ia dar uma lavagem. Nem soube explicar-lhe. Major, não reparou. Bebia, sombriamente, atrás das portas, atrás do armário, aos sustos, atrás do banheiro, olhando para todos os [194] lados, na sentina, embaixo da casa, sempre atrás de alguma coisa. Não sabia renunciar àquilo e não tinha coragem de afirmar que bebia ou de simplesmente beber à frente de todo o mundo.
O medo de que Major a surpreendesse fez trancar a porta da despensa. Não era medo. Era... teria de mentir que não era. Diria obstinadamente que seu Alberto, ao falar, ao acusá-la, não passava de um mentiroso, de um caluniador.
Medo seria se seu filho batesse agora na porta e quisesse ver o que ela estava fazendo ali. Batesse gritando: mamãe, abra. Abra!
Esses gritos imaginários cresceram em sua cabeça. Suas mãos tremiam. Abra! Quis virar a garrafa e hesitou coçando a testa molhada de suor. Não queria reconhecer que era fraqueza, seu orgulho se empapava de dor e de remorso como uma esponja. E isto aumentava a sua prevenção contra todos. A ninguém, nem a seus cúmplices diria. Estes comprariam garrafas e garrafas, quantas quisesse sem que lhe ouvissem da boca, que bebia. Era sempre um banho, para os cheiros, queimar a cachaça para a garganta, esta ou aquela infusão.
Foi à janela, derramou rapidamente o líquido e as últimas gotas que pingavam da garrafa ela as aparou com a mão em concha, a mão trêmula. Levou os dedos aos lábios com a avidez de uma criança e logo bruscamente deixou tombar a garrafa no quintal, já voltada para a voz que a chamava, à porta do corredor:
— Amélia, tua filha ficou deitada. Está com febre.
Sentiu-se refeita, calma, dando razão a seu Alberto: não passava de um constipado, era sol e lama quente.
— Fique, mea filhinha, um instantinho assim que a febre passa já-já. Vou molhar o pano no vinagre pra lhe passar na testinha, viu? Está me ouvindo, sua dengosa? Dengosa, então, meu Deus.
D. Amélia fechou as janelas do quarto sob os protestos da filha.
— Mamãe, não, não. Não feche. Fica escuro. Não quero pano com vinagre. Estou com medo, quero água. Não quero purgante. Não chame seu Ribeirão. Ele é um bicho, mamãezinha. [195] Fique aqui, mamãe. Então deixe eu ir pro colo do papai, lá. Eu não preciso comer, fico só no colo dele, olhando. Sim, mamãe?
Ela deitou a filha no colo, alisando-lhe as costas e o cabelo que recendia a mutamba, ninando-a de dengosa, chorona, aborrecida... E não sabia como principiar o tratamento. Como se fosse a vez que tivesse de cuidar da filha, pensou, hesitante, em chamar o seu Bioche, aquele francês crioulo metido a médico, em trânsito pelo Arari. Ou Ribeirão? Tinha primeiro de mandar a comadre Marcelina. O termômetro quebrara-se. Mariinha continuava falando muito, não mostrava cara alguma de doente. Tão gordinha a sua filha. Mas que dengo! Aquilo era mais enjôo, febrinha do sol.
Apalpou-lhe a testa, pegou-lhe o pulso.
— Hum, a febre alteia.
Passaram minutos, Marcelina chegara e punha a chaleira no fogo, a febre aumentou.
— Mamãe, abra a janela. Não quero escuro.
Nisto, um apito de lancha. D. Amélia fez um gesto de resolução. Aquela febre crescente poderia ser indício de grave doença. deveria facilitar. Mariinha tão dificilmente se criara. Quando nasceu, parecia de sete meses. “Não se cria”, diziam todos. Ela afirmava que sim e a criou. E agora por que não embarcar imediatamente para Belém e levá-la ao dr. Gurjão? Major, com seus vencimentos se atrasando, diria que o caso não era para tanto. Coitado, cheio de esperança diante da próxima operação da filha, decidiu-se para isto a vender o gadinho inteiro. Todo o gado pelos de Marialva. Valeria o sacrifício? Há quantos anos cega...
Tinha, portanto, que emprestar dinheiro para a viagem de Mariinha. Mas de quem?
Outro apito de lancha.
Talvez passasse logo aquela febre. Questão de horas. Não havia acontecido tantas vezes? Desobediência dela. Lama quente. Amanhã estaria de novo pelo quintal, impossível. No entanto, por esse susto, por que esse medo? Aproveitaria a viagem para [196] levar o filho também. Venderia o capado. Estaria no consultório do dr. Gurjão, amanhã, cedo.
Fora assim há três anos. Mariinha piorara. Ribeirão, fedendo, a voz de catarro, desenganara a criança. A lancha apitou. Arranjou a viagem em três tempos e salvou a filha.
Agora, ou por hesitação ou certeza de que a enfermidade não tinha importância ou porque considerava difícil obter o dinheiro...
Espantou-se com a voz de Alfredo junto à rede:
— Mamãe, é a “Lobato”. Não quer que mestre Sílvio espere? Não é melhor?
E sentado aos pés da mãe, os olhos em Mariinha:
— Quer que vá buscar o termômetro de d. Glorinha? Mestre Sílvio saltou. O correio ainda não mandou a mala. Tem tempo. Posso avisar mestre Sílvio?
Apenas o silêncio. Os olhos crescidos de Mariinha. Alfredo ergueu-se, circulou pelo quarto e voltou a sentar junto à rede.
Tinha vindo do quintal, depois de uma longa entrevista com a vaca Merência. Soubera que seria vendida para custear-lhe a viagem, ignorando a nova transação planejada pelo pai. E foi ver a Merência, o pelo sujo, a idade pesando-lhe nos lombos, o ubre murcho, sem aquele alvo encanto dos primeiros tempos. Idosa, enrugada, cheia de malhas, uma ausência de surpresas nos olhos, cansada de parir e de dar leite. Valeria a pena vendê-la ou talhar sua magra e velha carne no mercado?
Alfredo passou a olhá-la com inexplicável desassossego. Ela uma vez só olhou para ele. Terá adivinhado? Saberá que vai ajudá-lo a ir para o colégio? Chamou-a com um pedaço de fruto da cuieira. Ela veio. Parou diante dele com os grandes chifres, tão grandes quanto mansos. Para que essa enorme cabeça, se não pensa, se não tem juízo, se não poderá falar nunca, se não compreenderá que vai ser vendida? Acontecerá algum dia que a vaca possa falar?
— Merência, vamos te vender. Vai-te embora. Preciso ir estudar.
Com uma súbita impiedade de menino, desejou perversamente que ela compreendesse tudo, sentisse com ele o vexame de vê-la partir e aquela dorzinha que se insinuava por entre as [197] demonstrações de indiferença e de vontade de torturá-la.
— Es a vovô do curral. Precisas descansar.
Perguntará ao Didico se não podia aproveitar a cabeça para o boi “Caprichoso”.
— Merência, merenciana...
Deu-lhe a polpa da cuieira. Ficou olhando a cidade naquele dorso rajado, a cidade com as suas torres, as suas fumaças, as suas carroças de boi e bondes, não a que vira quando menininho foi a Belém. Gostaria de levar uma fotografia da Merência.
— Merência, cada teus filhos... Eles não se incomodaram contigo. Como posso me incomodar contigo se não sou teu filho?
Está velha, disse. Não compreendia nada. Daria um urro amanha ao receber a faca no pescoço, um urro que seria abafado pelo apito da lancha em que ele viajaria.
— Boa tarde, Merência, quem mandou nasceres vaca? Es o meu colégio, Ouviu? A minha viagem, ouviu? Boa tarde, velhota.
Deixou a Merência, alegremente; nada diria a Andreza. E subiu para ver, no quarto, que algo havia caído, de novo, sobre o chalé.
— Fale, mamãe, aviso mestre Sílvio? A senhora deixou quebrar a garrafa? Que tinha dentro? Apanhei os cacos porque amanha Mariinha podia pisar...
Queria a viagem menos por causa de Mariinha do que pela inesperada oportunidade que a febre dela oferecia: acompanharia a mãe, rápido seria vendida a Merência. Aquela febre, naquele instante, deveria subir mais, para que sua mãe se decidisse, o levasse em sua companhia e o deixasse afinal nalguma casa em Belém.
Mariinha não estava em perigo, não fazia mal estar pensando assim, ninguém como ele para desejar sua saúde, vê-la sempre fora dos perigos, ninguém. Por que sua mãe não decidia?
Se pudesse, pediria a Mariinha que fingisse estar pior, que alarmasse sua mãe. Assim partiriam.
Alfredo coçou a cabeça, desorientado e indagou de repente a si mesmo: não estaria desejando o seu bem a troco de mal para Mariinha? Confusamente comparou os seus pensamentos sobre Merência com os de agora. Arrastava a sorte da irmã a mesma [198] sorte da vaca. Seria pecado desejar o que desejou?
Sua mãe contemplava a filha. O filho acompanhara os cacos como para atirá-los dentro dela. Marcelina apareceu com panos para o vinagre.
Em vez de uma decisão para a viagem, d. Amélia prometia, com uma súbita aceitação de suas culpas, que voltaria a ser o que era quando nasceu Mariinha. Logo se assegurava de que Mariinha estava livre dos maiores perigos. Soubera criá-la, havia de vê-la na Escola Normal. No entanto, quando quis que major Alberto lhe trouxesse a garrafa de vinagre sentiu-se tão perturbada que não sabia onde deixara a garrada. Teria utilizado a vasilha... Sua filha falava. Chorava para não tomar remédios e queria as janelas do quarto bem abertas.
— Não chore, filhota. É uma febrinha.
E gracejou:
— Anda o dia inteirinho no sol, na lama, pisando no chão quente. É isto. Se lembra do cego e do menino que foi buscar a folha de lilás? Quer que eu termine a história? Agora me lembro. Quer?
— Não, não. Não quero que a senhora me dê purgante nem lavagem. Sim, sim?
Embrulhou-a — Alfredo trouxe água —, passou o pano com vinagre na testa. Tentou fazê-la adormecer. Mariinha pediu que ela cantasse. D. Amélia cantou baixinho. A lancha apitou.
Ela e o filho entreolharam-se a modo de surpreendidos. O menino baixou a cabeça, atentando bem no barulho da lancha descendo o rio, passando defronte do chalé, deu três apitos. Raspando as asas na janela fechada, revoavam passarinhos lá fora. Uma vaca urrou perto do quintal, assustando a doente que começou a falar em passeio, em boi brabo, na fada, na cobra, em Alfredo, no fogo que a queimava.
— Traga a medida do meu tamanho. Não quero ficar pequenininha. Mande trazer a luz. Estou com medo. Com medo.
A vaca urrou novamente. A Merência, será que agora compreendia?
[199] Alfredo atravessou o campo, ganhou o caminho do cata-vento, entrou na rua Boa Vista, crivado de remorsos, censurando a mãe porque não partiu, mas se convencendo que Mariinha estaria, à noite, suando, sem febre.
Procurou seu Bioche pelas casas conhecidas, no mercado, no cartório: seu olhar se escancarou ante o livro dos mortos, ali, sobre a mesa, como uma pedra de túmulo. Foi ao pardieiro onde aquele doente amarelo passava o dia tremendo, tremendo, o olhão aceso. Nem na tenda do ferreiro encontrou seu Bioche.
Dessa busca meio desesperada, uma cena o impressionou singularmente: ao passar pela casa do extinto tabelião Viriato, parou, cansado, sem esperanças. Viu através da janela alta que dava para a rua do Mercado umas velhas, na sombra do quarto, espiando-o. Velhas. Eram, sem tirar nem pôr, umas bruxas de pano. Tão imóveis e velhas na sombra, espiando-o como se lhe dissessem:
não procure quem não está. Mande d. Doduca fazer o enxoval do anjo para a sua irmã, é que é.
Alfredo estremeceu, entre o pressentimento e o medo. As velhas olhavam-no. Houve um momento em que elas pareciam suspensas do teto, bruxas, bruxas, mudas bruxas de mau agouro.
Ao passar pela casa de Salu soube que seu Bioche havia seguido na “Lobato”.
Entrou na sala mordendo os beiços, não querendo ver no rosto mãe o desapontamento e o remorso de não ter embarcado, senão teria de chorar diante dela, compreendendo, além de tudo, que Mariinha piorara.
D. Amélia chamou o Major. Precisava preparar uma lavagem.
— Não, não, mamãe. Tenho medo. Medo. E um bicho atrás da porta. No escuro. Seu Ribeirão, mamãezinha.
Deitou a filha nos braços do Major. O corpo era uma brasa, como se só agora o fogo daquela noite a estivesse queimando.
— Um banho, psiu. Um banho...
D. Amélia trouxe o irrigador cheio que Major suspendeu junto a parede. Com a filha de bruços em seu colo, pediu que Marcelina segurasse as pernas da menina e foi feita a lavagem.
Major arrastou o bacio pequeno. D. Amélia esperou o efeito [200] — por que demorava? — com a convicção de que em breve teria de agüentar as manhas da filha, já sem febre, reclamando chá com pão torrado.
Na varanda, alisando a cabeça da Minu, Alfredo esperava. Rodolfo não viera trabalhar. Um silêncio desceu no mormaço da tarde e o chalé mergulhou num total isolamento do mundo.
D. Amélia, de olhar parado sobre a filha, numa dura tensão, segurava-lhe o pulso em fogo. Por que tanto medo, por que tanto susto, não tinha acontecido tantas vezes?
Amparou-lhe a cabecinha mole. Alfredo quis perguntar-lhe se o pulso estava no lugar. Se não estava subindo. Pensou em Nossa Senhora, nos Três Deuses, que se misturavam nas suas obscuras súplicas. Via seu pai andando na saleta, na mesma calma, e encontrou cifras no papel sobre a mesa, número de reses, nome de vacas e compreendera que o pai decidira vender o gado. Inclusive Merência? E o nome escrito: operação? Que operação? Como? Viu-o folheando os novos fascículos de Santa Rita de Cássia.
No quarto, ao abrir de leve a porta, sentiu ali escuridão, silêncio, delírio, a mãe numa misteriosa contemplação sobre a filha.
Assim ouviu, como se fosse um clamor ao longe, alguém que quisesse atirá-lo da janela para o quintal, ouviu a voz quase tranqüila de Marcelina que avançava de braços estendidos para a rede:
— Minha comadre Amélia, ela está expirando, me dê sua filha, deixe ver ela, mea comadre...
D. Amélia estreitou a filha em seus braços, sacudindo a cabeça que “não, não”. Alfredo escancarou a porta e deu um grito. Major Alberto surgiu com os fascículos na mão e Marcelina saiu correndo para comprar uma vela. A vaca urrava no quintal. Major curvou-se sobre a filha, tentando pegar-lhe o bracinho e falou:
— Isto, psiu, é uma espécie de ataque. Passa. Mande ferver, psiu, um pouco d’água. Para um escalda-pé.
D. Amélia envolveu a filha no lençol, ergueu-se com a menina nos braços e disse:
— Forre a cama pra colocar lá o corpo.
E ainda podia ouvir os soluços de Alfredo na varanda.
[201] Ao vê-la fechar o pequeno esquife de flores, Lucíola, que a observava maldou, desapontada: Que mãe... nem ao menos uma lágrima. Até me admira que não esteja... Ah, meu São Expedito, que será de Alfredo?
Enxugou os olhos vermelhos, como se estivesse só na varanda cheia de gente. Não chorava por Mariinha, enfim era um anjo a mais, chorava porque... Nem sabia. Também era necessário mostrar sentimento diante de Alfredo para que este a comparasse com a mãe. Que significava aquela morte súbita? Por quê? Teria sido mais uma de d. Amélia, engano de remédio, num daqueles instantes seus que abalavam o chalé? Um impulso a levou a aproximar-se do menino, mas se conteve. Alfredo, que deixara de chorar, franziu a testa, voltando-lhe as costas.
Ele via a mãe transportada aos dias do passado. Era uma nova derrota, sim, mas ressurgia-lhe a mãe que não se deixava abater nem chorava. Nesse intervalo de pranto e de insubmissão ao que acontecia, o menino observava-lhe uma atitude que não sabia definir e que era o readquirido domínio de si mesma. Isto aboliu para ele as impressões confusas do momento, o sussurro das moças na varanda, a voz dos adultos na saleta — para fazer-se um silêncio em que seria possível apenas escutar os sentimentos da mãe. Viu-a só, com um negror pálido, majestosa, à cabeceira daquele caixão branco, como uma fada negra que, com um gesto, poderia levantar daquele berço de rosas e violetas, a adormecida menina.
O menino compreendia que ela não tinha nenhuma resignação em seus olhos enxutos, em seus gestos enxutos. Seu olhar refletia a mesma espavorida surpresa com que olhara o filho afogado, refletia também as noites, os anos em que desafiou e venceu a força que agora lhe arrebatava a filha.
Ela voltou-se um pouco, procurando Alfredo. E este sentiu que estava mais protegido, não teria de escapar daquelas mãos negras, sua mãe havia de curar-se também. Mas isto logo lhe doeu como se tivesse sido culpado da morte de Mariinha.
[202] Major Alberto aborreceu-se um pouco porque esquecera de cobrir os prelos, as caixas de tipos, a máquina de cortar papel. Estranhos poderiam bulir na tipografia. Esse aborrecimento era um dos pretextos para esconder o seu estupor, embora estivesse habituado à morte de vários filhos. E pensava na operação.
Conseguira vender o gado naquela noite porque dr. Lustosa tinha pressa e Amélia em meio do velório não recuara um só tostão no preço. Quatro vezes foi e veio Sebastião levando e trazendo ofertas. Salu confirmou a justa avaliação, dr. Lustosa cochichou que a “interferência da preta impedia a possibilidade de um preço menos exagerado”.
— Com a filha morta dentro de casa imagine! Enfim, diga ao Major que aceito.
Guardara o dinheiro da operação, perdera o gado. Perdera também Mariinha. Amava-a como uma neta. Dera-lhe muitas vezes, é certo, a emoção de jovem pai de primeira filha, descobrindo, agora sabia, reservas ate então desconhecidas de paternidade. Tinha para ela uma amadurecida ternura que não tivera, não soubera ter, com os outros filhos e lhe transmitia a vitalidade de um homem para quem o gosto da vida continuava intato. Eutanázio lhe dera uma sensação de fracasso, de sombria perplexidade sobre o destino do homem, os fins da existência e sobre aquela paixão por Irene — até a cena final da mulher grávida diante de um moribundo. Mariinha, hoje melhor sabia, reavivava-lhe alguns sonhos, impelia-o a uma mudança de vida. Que mudança? Indagava em seguida.
Foi ao quarto, enxugou o rosto. Por acaso passou pelo velho espelho fosco, defronte da janela, que refletia, como de uma paisagem muito distante, verde trecho da margem do rio sob um azul tão tranqüilo. Ficou contemplando por algum tempo aquela feliz insensibilidade da natureza.
Vestiu o paletó que d. Amélia lhe aconselhara, voltando para ver as moças retirarem o caixão da menina de cima da mesa e sentir que em lugar deste colocavam o seu caixão de velho.
O enterro tomou o caminho dos campos.
Major Alberto deitou-se na rede — terá de mandar o dinheiro [203] amanhã, cinco contos e seiscentos mil-réis. Lembrou-se dos olhos arregalados de Alfredo ao saber, com certeza, que Merência seria vendida também. Tudo isto na mesma noite, dentro do velório alegre de moças em torno do anjo. Pôs-se a olhar o teto, vendo os ratos correrem nas telhas iluminadas como se atravessassem uma cena de lanterna mágica. Voltou a pensar naquela paisagem vista através do espelho fosco e através de seus 58 anos. E isso não o fazia distinguir mais a morte de uma criança, da morte de um inseto. Sentiu-se um pouco aliviado, uma espécie de candidez dominou-lhe o espírito e pôde então acompanhar a aventura pelo telhado daqueles ratos para os quais andava preparando o m mortal dos venenos. Onde Amélia o teria guardado? Repentinamente, com a mão sobre os olhos, supôs que Mariinha... Logo sorriu, de leve, afastando a suposição absurda e passou novamente e interessar-se pelos ratos em suas incursões pelo telhado. Viu o rabo de um, suspenso, e outro correu ligeiramente, tornando-se grande na luz que as telhas coavam. Uma aventura essa, a dos ratos, tão insensíveis como a paisagem do espelho, refletiu vagamente. Mas por que? Foi a sua brusca pergunta que lhe escapou dos lábios.
O enterro saiu do chalé, às quatro horas e três minutos, observou Alfredo no relógio despertador que lhe pareceu tão velho e fora do tempo. D. Amélia, entre as mulheres da redondeza, ficara no meio da varanda junto à mesa de jantar. Ali permaneceu tocando numa ou noutra pétala esquecida, nas folhas deixadas, num pedaço de fita, envolvida no cheiro das flores, da fazenda nova do derradeiro vestido da filha.
Alfredo não quis ver a irmã no caixão. Com a fixa lembrança da noite em que ela se queimou, correu para a mãe e agarrou-se a seus braços, tremendo. Sua mãe acariciou-o. Alguém arrastava bancos na cozinha, não se sabia por que Minu ladrava no quintal. Os passarinhos, revoando, chocavam-se na parede de madeira do chalé. Teriam compreendido também?
Dirigiu-se à sala e olhou novamente o relógio. Gostaria que o relógio se dispusesse a trabalhar andando para trás até a [204] primeira hora em que nasceu Mariinha. Que desigual era o tempo! As horas não possuíam a mesma medida de duração, que semelhança existiria entre a hora do nascimento de Mariinha e a hora da febre?
Havia agora passado cinco minutos apenas e Mariinha não estava. Cinco minutos. Parou o relógio.
Atravessou a varanda, desceu a escada dos fundos, entrou pelo curral — este vazio para sempre — e saiu pela porteira para alcançar o enterro já em pleno campo.
Os sinos espalhavam os risos, as palavras e a vida de Mariinha pelo campo, despencando as flores do algodoal brabo, entre as negras e luzidias iraúnas que em bandos acompanhavam o enterro. Os cálices murchos tentavam recolher aquela vida dispersa, as abelhas do pequeno bosque próximo procuravam apanhar também aquele pólen que os sinos espalhavam alegremente. Alfredo pensou nas mãos do seu Mané Leso, o sineiro, pesadas quando tocavam a defuntos e leves para anjos.
Caminhava, colhendo, nervosamente, flores de batatarana como lilases, sentindo-lhes a delicadeza que sentia no cabelo da irmã. Colocaria aquelas flores esmagadas e sem perfume sobre a cova. À lembrança deste nome, parou, chorando. Lucíola correu para ele.
Amparou-o, disse-lhe palavras que ele não entendeu. O seu menino voltava com aqueles mesmos soluços de antigamente e consentia que a sua cabeça pousasse em seu braço. O sino enchia de sons as flores, as folhas e as poças d’água, que refletiam pontas de vestidos, rostos de crianças, pernas nuas e nuvens. E o enterro caminhava como uma ciranda.
Depois o sol descobriu-se, o caixão brilhou, os ramos de flores nas mãos das acompanhantes tornavam-se aos olhos de Alfredo grandes e pintados, em relevo sobre o campo. As meninas pulavam as poças como se pulassem na corda ou quisessem saltar sobre as nuvens brancas que fugiam do sol.
Andreza aproximou-se dele e tocou-lhe no braço, sorrindo. As moças sorriam, rosadas, com seus vestidos de festa ou mesmo pálidas, tinham fitas no cabelo, carregando o féretro como se ganhassem uma caixa de boneca. Doía-lhe a graça que tinham, a [205] alegria que punham em seus movimentos, a mesma alegria com que apanhavam bacuris e tucumãs na mata próxima do cemitério. Afastou-se de Lucíola e Andreza o acompanhou. O caixão se distanciava, Alfredo comparou-o às caixinhas de segredos, enlaçadas de fitas, dos leilões do arraial. Para ele era segredo o que estava ali encerrado, a mudez de Mariinha, sufocada entre flores. E assobiando, esticando baladeira, baganas na boca, e entre eles um que empinava uma curica, os moleques espiavam passarinho, rotos e festivos tal qual em tarde de procissão.
Vendo os cavalos deitados debaixo da árvore e se lembrando de Merência, Alfredo acreditou que os animais tinham maior compreensão para com aquele enterro. Os sinos divertiam-se, tocando. E isso como que excitava as moças que pareciam noivas e dançarinas, o caixão leve nas mãos, saltando sobre as terroadas e as moitas, com o vento suspendendo-lhes os vestidos e os cabelos.
Virou-se para Lucíola que tinha o rosto branco-branco, pó de arroz ou tapioca, para esconder as manchas, e suava ao sol. Com o grande penteado de baile. Caminhava de sapato alto, tentando caminhar como se estivesse na cidade.
Entraram numa zona de capões, seguindo os caminhos do gado. Andreza varava os cipós como em brincadeira de corrente na roda de meninas e vinha com o cheiro das folhas machucadas, mordia as folhas. Os dentes iam se tornando esverdeados. De repente, tirou os sapatos. Lucíola ralhou. A menina queixou-se de um calo e pôs-se a correr e a saltar. Caiu uma vez na toiça de juqueris, foi preciso Lucíola acudir e tirar-lhe os espinhos. Alfredo aproximou-se e disse:
— Sem-vergonha. Não se respeita. Podia ser teu o enterro.
Ela sentou-se no campo, coçando as nádegas feridas. Calçou novamente os sapatos, pediu para carregar o caixão, o que foi recusado. Alfredo desejou, então, ser um homem para levar sozinho a irmã. Mandaria embora toda aquela gente. Sustentaria o caixão nos braços, com cuidado, como carregava para a mesa o monte alto dos pratos. E sentiu a mão de Andreza na sua, primeiro um dedo tímido, outro, depois a carícia dos dedos pela palma [206] inteira e os dois caminharam em silêncio. Lembrou-se de um enterro de criança que acompanhou por vadiação, atrás de murucis e borboletas, as vacas pastavam; uma vez o caixão ficou sozinho no capim. A vaca veio cheirar o anjo e as moças voltaram do murucizeiro aos gritos.
Quando a cerca do cemitério apareceu com o fundo escuro da mata, Alfredo estacou com o olhar espantado de Andreza sobre ele. Soltou-se das mãos da menina. Olhava em torno com o beiço tremendo. Diante dele estava já o cemitério. Fora, o mato verde, o campo verde. Dentro, as cruzes secas, os epitáfios secos, as secas sepulturas.
Primeiro, não quis entrar, hesitou uns segundos. Andreza puxou-o pela blusa. Quando o enterro chegou ao pé da cova, correu aos gritos:
— Quero ver a maninha. Não enterrem a maninha. Não. Deixem aí em cima. Aí.
Lucíola retirou-o de cima do esquife. Ele tentou resistir. Por que Nossa Senhora não a tirava do caixão? Por que era necessário enterrar a maninha? Não era anjo, não era, mas apenas defunto, tinha que ser metido dentro da terra, virar osso seco. Tinha que apodrecer, ninguém iria colocá-la entre os anjos. Estes não eram crianças da terra, não eram. Não queria ver a irmã no fundo daquela cova escuríssima, cheia de restos de raízes, com certeza minhocas, passeando à espera. A espera. Minhocas. Mariinha tinha pavor das minhocas. Pavor. Os vermes do padrinho do tio sairiam também pelo nariz de Mariinha? Debateu-se entre os braços de Lucíola e de Sebastião, pedindo que queria ver a irmã. Andreza pôs-se a chorar ao pé de uma lousa curva, com as mãos nos sapatos. As moças, entre lágrimas, sob a hesitação e em silêncio, olhavam os coveiros se prepararem. Os passarinhos brincavam entre as cruzes.
— Me deixem ver a maninha... Me deixem.
Tartamudeou, numa voz de súplica, aos soluços. Algumas moças desataram as fitas do caixão. Lucíola e Sebastião ergueram-no para que melhor ele pudesse vê-lo.
[207] Como crescera! Tamanho da moça que deveria ser, segundo a medida de sua mãe, o tamanho que ela não queria. De qualquer maneira, gostaria de se ver assim tão crescida. E com toda a gordura, de onde desabrochavam aquelas flores que enchiam o esquife. Toda a juventude se recolhera naquele rosto de menina, agora moça, porque os demais rostos dos que ali estavam, em torno dela, haviam envelhecido. Que faltava para abrir os olhos, mexe os lábios como quando dormia e lhe perguntar, espantada: que foi que aconteceu? E se ela, com seu beijo de irmão na testa, agora tão gelada, acordasse, se levantasse e saísse de braço dado com ele, correndo, espalhando as flores do caixão pelo campo?
— Desça, meu filho, cochichou Lucíola.
O caixão foi lançado na pequena cova como uma semente. Aquelas moças que se haviam afastado e não tinham assistido à cena, correram por entre as sepulturas e alegres atiraram terra. Não esquecerá um torrão, entre os dedos de uma menina, que se esfarelou e caiu tão pouco, mas tão bastante, tão doendo em se coração!
Lucíola levou-o dali e ele tapou o ouvido para não escutar a terra caindo sobre Mariinha. Andreza humilde, o abraçou, dando-lhe na palma da mão qualquer coisa como se brincasse de “tome este anel”. Ele maquinalmente apertou o objeto e só no chalé reparou: era a medalhinha com um cordão que Andreza andava usando no pescoço.
Mas ao guardar a medalha entre as roupas deixadas pela irmã na mala grande, estremeceu: deveria ter dito a Mariinha que o que enterrara, naquela tarde, era uma borboleta e tinha sido malvado traindo ao mesmo tempo um juramento. Dissera-lhe que plantava uma semente. Que semente? Perguntara-lhe Mariinha. Ele respondeu: Mistério.
Estaria ela sabendo agora o mistério?
Naquela semana, Andreza não o deixou, embora Alfredo nenhuma atenção lhe desse. Ela insistia, com um desejo informe de substituir Mariinha, ser agora a irmã dele, talvez mudando-se para o chalé. Ao mesmo tempo, com sua malícia, julgava impossível ser irmã. Por que não, marido e mulher, quando crescessem?
[208] Veio, uma tarde, com um presente para ele. Porém trazia consigo uma preocupação, um temor, quase remorso.
Ele desembrulhou o presente da menina: cajus. De onde furtara?
Do cajueiro de Lucíola, não, que era avarento de frutos. Se dava um, podia-se dizer que era um esforço ou o máximo de generosidade do velho cajueiro. Mas ao dar, aí, sim, caprichava, gordo e grave caiu na mão de Lucíola e desta, invariavelmente, para a mão do menino. Alfredo comia-o com afoita gulodice, guardando a castanha para assar nas brasas do fogareiro. Certamente os cajus de Andreza tinham sido furtados daquela casa à esquina da rua Boa Vista. A menina se especializava em furtar frutas e as poucas rosas que haviam em Cachoeira. Uma noite de ladainha, furtou uma rosa do altar da Padroeira para despetalar entre os pombos do pombal do promotor.
Mas o presente dos cajus não era apenas para agradar o menino, vinha disfarçar uma culpa de Andreza. Demorou em dizer, por fim confessou, primeiro brincando, depois temerosa. Furtara um pombo e passou todo um tempo a hesitar: matava? O pombo lhe parecia tão manso, tão confiante na sua mão. Mas matou. Assou-o, comeu e contando agora que havia comido o pobrezinho largou-se a chorar.
— Estava gostoso? Foi a inesperada pergunta de Alfredo, talvez para espicaçar-lhe o remorso ou medir o tamanho da perversidade de Andreza.
Ela, remelenta de lágrimas, sacudia a cabeça que sim e caia em soluços. Tinha pena também de ter escasseado ao amigo um pedaço do pombo. Alfredo não lhe dizia mais nada, indiferente àquela escassidão, tornando-se mais reservado ainda. Ficou por cima, superior, ao julgar o ato de Andreza, dando a entender mesmo que comer um pombinho... ele comer? ah, isso nunca.
E todos os agrados da menina foram em vão. Nem mesmo as lágrimas. Alfredo não falava de Mariinha diante dela nem chorava. Também não recorria ao carocinho para ressuscitar a irmã. Morte é morte e a perda de Mariinha era para sempre, por isso seria demais para o faz de conta. Faz de conta, sim, enquanto se [209] vive, se tem esperança, há futuro. E este, no menino, estava intacto, herdando da irmã morta a vida que ele teria de viver, as esperanças e os sonhos deixados por Mariinha.
— Uai, salvou-se uma alma. Minha filha até estas horas sem cantar...
Rodolfo compunha os novos talões municipais. Mariinha pediu-lhe que prendesse a bola de papel no fio e passou a brincar, embora triste, com o gato Gutenberg. Sua mãe foi terminar o vestidinho dela na máquina de costura
— Major achou sempre o veneno para os ratos, d. Amélia? Voltou-se o tipógrafo, com o componedor cheio, e impaciente, os tipos estavam cada vez mais atrapalhados. Os A estavam no B, o corpo dez no corpo oito. Era distração do Major que, por sua vez, acusava o Rodolfo todas as horas, de transformar a tipografia “numa torre de Babel”.
— Hein, d. Amélia?
Mariinha apressou-se a dizer que “sim, achou”, caminhando para a saleta a indicar ao Rodolfo onde estava o embrulho do veneno.
— Mas, minha Nossa Senhora, quem te disse, como é que tu sabe? Por que diacho seu Alberto não escondeu noutra parte? Largue, minha filha. Rodolfo já sabe. Seu pai quer por força envenenar a casa toda.
Apanhou o embrulho da mão da filha e o escondeu na última prateleira de cima da estante.
— E ele entende de química, não, d. Amélia?
— Seu Alberto? Falou uma tarde inteira nessa palavra. Desta [181] quase não entendia nada do que ele disse. Pedi apenas que não se o veneno. Acabava botando veneno na comida, para experiência.
Rodolfo queixou-se da confusão dos tipos.
— Mas, Rodolfo, seu Alberto te culpa. Acha que tu não tens Todo o dia ele bate os pés aí com a torre de Babel. Diz que fazes um verdadeiro labirinto. E para melhor me explicar foi por gracejo buscar o livro da mitologia e me explicou o que era labirinto. Sei que compreendi que está aí uma atrapalhação toda. Imagine se vocês continuassem na teimosia do jornal. Ainda por cima, o juiz a reclamar a Prática das Falências. A letra A acaba na caixa do Z, não acaba? Amanhã quando pensares que estás compondo uma palavra, estás compondo outra. Acaba dando certo. E você, dona Mariinha, você não anda também compondo?
— Nunca, mamãe, nunca. Vi foi o gato.
O gato? O Gutenberg compondo? E, é, mamãe.
D. Amélia riu e pediu a opinião de Rodolfo sobre o porco.
— Quando se come o toucinho, d. Amélia?
— Ora, sei lá, seu Alberto é um ai meu Deus com ele. Parece até que foi ele quem criou e engordou. Ele diz que se for morto aqui, não sobra nem um pedaço de toucinho pra casa.
— Por quê?
— As aperreações do seu Alberto. Diz que dou tudo. Continuo a ser a Santa Casa de Misericórdia. Se ele visse o que é um hospital de caridade... Para estas coisas, ele é um purgante. Quando é pra cobrar a continha de uma questão de advocacia, coitado, vai sempre no embrulho. Passam a perna nele... Nunca se atreveu a ir com esse intendente e dizer: meu ordenado é pouco, sou o secretário municipal, tenho duas famílias, representação, preciso de aumento. Prometeu que ia dizer. Escreveu uma carta, hum, leu pra mim, um relambório, quase não diz o que quer. Tu mandaste a carta? Assim ele.
— Continua um filósofo, não, d. Amélia?
— Mas as filhas em Muaná pensam ainda que quem fica com o dinheiro dele sou eu. Talvez saibam como ele é, enfim. Mas [182] sempre desconfio. Mal sabe ele que quero apurar da venda do porco para ajudar a viagem de Alfredo. Preciso levar meu filho daqui, Rodolfo. Bem sei que um porco não dá nada. Mas vendo a Merência e a novilha. Se eu pudesse, voltava a armar meu tear e fazer umas redes. Estão dando muito dinheiro, não? Tinha que comprar os fios. Seu Alberto achava logo que só em fios ia todo o lucro.
Mariinha, que a escutava, foi à despensa, olhar as peças do tear desarmado. Chamou a mãe.
— Que é, minha filha? Os ratos?
— A senhora me disse que um dia ia fazer uma rede pra mim.
— Foi, minha filha. Nos bons tempos eu fazia. Não faço mais. Bem que podia sustentar meu filho no colégio, fazendo redes.
— Que é bom tempo, mamãe?
— Hum, filhoca, não sei explicar bem. Pergunte a seu pai. Bom tempo é quando eu fazia rede.
— Por que não nasci no bom tempo, hein, mamãe?
— Deixe estar que vou lhe arranjar um bom tempo.
— Então faça uma rede pra mim me embalar, faz?
— Pois bem, vou pedir a seu pai que me compre fio e assim posso armar meu tear. Mas me deixe acabar seu vestidinho. Vamos. Mostre sua cara aqui na luz. Espiche a língua. Você parece que amanheceu triste, não? Por que não cantou? Todas as manhãs, uma cantora. Por quê?
— Mamãe, não gosto de adoecer. Não quero ficar doente, pronto.
— E quem gosta?
— Alfredo.
— Alfredo?
— Ele adoece de vontade, chora na rede, passa hora chorando.
— Tu já viste ele chorando sozinho?
— Já, mamãe.
— Mas não é gosto de adoecer. Ele chora porque quer ir para a cidade. Ele tem razão.
— A cidade é grande-grande, mamãe? Como ela é? A senhora ,ode pintar ela pra mim? Tu me leva na cidade?
— E grande. Lá a gente estuda. Teu mano quer ir lá estudar. [183] E a senhora estudou lá? Seu pai estudou.
— E a senhora?
— Eu estudei cortando seringa, minha filha.
— E como era? A senhora me ensina?
— Deus te livre, filha minha. Deus te livre de uma seringueira.
D. Amélia puxou a filha para junto de si, os olhos no chão vendo as crescidas águas de março nas Ilhas que levaram seu primeiro filho.
Mariinha soltou-se e foi olhar à janela. Contemplou, com curiosidade, como se nunca tivesse visto, a parede escalavrada da casa de Lucíola sustentada por dois esteios. Teve um breve pensamento na jibóia. A jibóia e os ratos. O veneno e a jibóia. Alguns meninos jogavam pião na calçada da casa do coronel Bernardo. Ela tentou fugir para vê-los de perto e, se possível, jogar com eles. Desejou a presença de Andreza e sentiu-se sem ânimo para sair. D. Amélia deixou a máquina e foi à janela também.
São onze horas já. A sombra da casa do coronel Bernardo esta descendo na calçada.
Foi à cozinha destampar a panela da carne, passou duas vezes aponta do charuto nos dentes. Deu por falta do periquito, perguntou ao Gutenberg o que teria feito do bichinho. Mariinha subitamente pôs-se a chorar pensando que o periquito havia sido devorado pelo gato. O gato tinha os olhos amarelos, como se entendesse a injusta acusação. Por fim surgiu o periquito da despensa, beliscando um pedaço de banana. Gutenberg aí saltou sobre ele. Acudiu d. Amélia.
Mariinha ficou chamando a mãe para que fosse lhe medir na parede.
— Mas eu já te medi, minha filha. Tinhas dois anos. Olha a medida aqui na parede. Dobrada a medida que tinha aos dois anos, está aqui a altura que vais ter quando cresceres. Uma nanica. Vais ser do tamanho da Anésia. Mas a Anésia já voltou de Belém, Rodolfo?
— Não. Se empregou, disque. Empregada da Rocinha dos [184] Teixeiras, disque.
— Duvido que pare lá. Duvido. Um dia desses está aí saçaricando na rua das Palhas.
— Mas eu quero de novo me medir, mamãe. Agora me medindo, não fico mais pequenininha.
Sua mãe, rindo, tomou o fio de Gutenberg e mediu a altura da filha na parede. Dobrou a medida e disse:
— Está aqui o tamanho. Assim fica muito grande, Mariinha.
— Grande, grande? Do tamanho da cidade?
— Do tamanho da cidade, também não. Grande.
— Que bom. Fico uma Mariazona.
Mariinha estendia o fio, sem vivacidade, como se espreguiçando, o que não escapou à mãe.
— Mea filha, você não está boa. Não quer deitar um pouco? Espere seu pai que está pra chegar. Ou dói a barriga?
— Não, mamã. Quem gosta de doença é o Alfredo. Eu, não. Não tenho nada, nada.
Não queria ser pequena. Queria ser grande, grande. Guardou o fio de sua altura na caixa de sapatos onde também guardava a roupinha da boneca de pano. Se adoecesse voltaria a ficar menor do que era. Não, não ia deitar-se. Deitando, adoeceria. Foi à janela acompanhando o vôo de passarinho que entrara pela varanda e saíra para o quintal. Desceu, calada, com uma irritação crescente, lutando para não se deitar na rede. Sentou no soalho ao lado da Minu que começou a lamber-lhe as pernas. Gutenberg olhava a cena com o pelo arrepiado, a cauda em cima. A menina deixou-se ficar sob o agrado da Minu, o rumor da máquina de costura e o tic-tac do componedor de Rodolfo.
Foi quando entrou Andreza como um pé de vento. Descalça, um rasgão no ombro do vestido, os cabelos sobre os olhos, ofegante.
— Mariinha, te trago uma noticia mais bonita que aquela história da fada...
— Menina, vai...
— D. Amelinha, deixe primeiro vender meu peixe. Depois
senhora vende o seu.
— Apresentada, então, que enjoa. A linguagem dela é de gente velha.
— D. Amelinha, por favor, sim? Deixe venderzinho o meu peixinho, simzinho?
Sacudiu os cabelos diante de d. Amélia, os pés juntos numa graciosa reverencia. Contou a notícia. Era um passeio.
— Um passeio de gente grande. Há quem tome conta da gente. Eu, por minha parte, torno conta de Mariinha. A senhora, d. Amelinha, bem que podia ir. Nunca vai em parte alguma. Eu acho que a senhora não vai nos bailes, não vai nessas festas da “alta” porque a senhora não quer. Eu não estranho que a senhora seja dessa cor. Quando eu for moça vou fazer um baile só para a senhora. Para a senhora ir. A senhora ia de braço dado com o major Alberto. Dançavam. Que par, bem, d. Amelinhas? A senhora não é mulher dele? Não se casaram no juiz ou no padre? A senhora deixa agora a Mariinha ir? Eu tomo conta dela.
Calou-se, subitamente, mudando de cor, quando deu com Alfredo à porta do corredor. Este media-a de alto a baixo, pálido de raiva, na iminência de atacá-la. Andreza recuou para trás da maquina de costura. D. Amélia fingia preocupar-se com o refego.
— Pois bem, agora que vendi meu peixe, venda o seu, d. Amelinha, disse ela com voz alterada, os olhos em Alfredo.
— O meu peixe, falou d. Amélia, segurando-lhe a mão, é te mandar beber água para passar esse cansaço, menina levada. Suspende, suspende um pouco esse vestido — é um trapo a roupa dela. Três dedos de sujo nas pernas e no pescoço. Os joelhos, minha Nossa Senhora, os joelhos dela... pretinhos de terra. Vai, anda, beber água. Tu sofre é do coração, menina.
Andreza saltou para o corredor e parou defronte de Alfredo. Como ele estava de raiva, os beiços tremiam, observou ela. E fez um rosto de culpada que, por isso, a Alfredo pareceu lindíssima.
— Queres água?
— Não, seu mau, eu tenho mão pra tirar.
— Deixa que eu tire, sua... Não és dona desta casa. Aqui és visita. Aqui és uma intrometida.
[186] — D. Amélia, seu filho não quer que eu mate a sede — disse ela baixo — se nega a me dar um gole d’água.
Alfredo segurou-lhe os pulsos, sacudiu-os, dizendo, abafadamente:
— E por que disse aquilo pra mamãe? Por que vem ainda aqui? Aqui em casa, branca de tua igualha, suja, não bebe água. Te ponho daqui com a mão na cara, te atiro da escada abaixo. Tu não podes dizer aquilo, caçoando da mamãe, sua desgraçada, sua porca.
— D. Amélia — gritou ela — seu filho! E tentava retirar os pulsos das mãos dele, debatendo-se, até que dobrou os joelhos, silenciosamente, fazendo um ar de súplica e de choro, depois sorrindo, já sem medo, exalando aquele odor de menina suada, cheirando a tucumã e a poeira.
— Suja, não toma banho. Suja.
Ajoelhada diante do menino, deixando suas mãos nas dele, fitou-o com humildade e abandono. Era uma cara de marreca espantada, disse ele mentalmente com raiva e fascinado. Os olhos dela como que se iluminavam na sombra das longas e graúdas pestanas. De súbito, ela ergueu-se, sacudiu os lisos cabelos sobre ele e beijou-o na face. Alfredo, colado à parede, piscava, vivamente, para a varanda. Ela, com o rosto nas mãos, espreitava-o, por entre os dedos.
Encheu o copo na torneira do filtro, e quando se voltou para oferecer-lhe água, Alfredo havia desaparecido. Bebeu um gole, engasgando-se, tossiu ruidosamente e correu para a Mariinha que continuava no soalho, mole e encolhida.
— Que ela tem, d. Amelinha? Triste, não? Tão rolicinha que está... Parece que pegou foi quebranto. Mande d. Marcelina rezar nela.
— Quebranto é a tua cara, sua saçariqueira. Este demoninho. Tu sossega quando dorme?
— Sossego, sonho com a senhora.
Intimamente disse que sonhava com Alfredo, e se queixou:
— Não quero fazer enredo, mas quando fui beber água, Alfredo me apertou o pulso dizendo que eu tratei mal a senhora. Tratei? Olhe, se ficar roxo, a senhora paga a benzição de d. Marcelina, ouviu?
[187] D. Amélia não respondeu, dando movimento à máquina e logo parou para chamar a filha:
— Maria, tu não repara que a Andreza está aqui? Não falaste com ela?
Andreza, então, curvou-se sobre a menina e beijou-lhe os cabelos.
— Vou mandar d. Marcelina benzer essa menina bonita. Esse anjinho do meu coração. Não é, Maria de Nazaré Coimbra?
Voltando-se para d. Amélia, bateu o pé no soalho e exclamou:
— Quebranto comigo leva só um grito: Zás, diabo trás. Mas com Mariinha, eu vou curar o quebranto dela com uma história que nhá Lucíola me ensinou. Essa história tem uma história também. Ela havia aprendido de uma velha especialmente para contar pro Alfredo. Como Alfredo faltou, ela com raiva me contou. Me contou por pura dor de cotovelo. Foi o que Alfredo perdeu. Mariinha, quer ouvir? Aviso que não sei toda. Conto aos pedaços. É a história do cego e dos três filhos.
D. Amélia sabia a história, mal a mal. Ficou remoendo o que compreendia como intriga de Andreza a respeito de Lucíola. “Uma história especialmente para Alfredo”. Por que aquela moça casava, ao menos não fazia um filho? Neste ponto, admirava Irene. Bonita, barrigona, desafiando o mundo. Coitada da Lucíola. “Uma história especialmente para Alfredo”. E Andreza era uma menina que ia longe.
— Conta a história, vamos ver se vai contar direito.
— Ah, a senhora sabe... Não sei bem... Ela me contou, mas não sei dizer... Eu e Mariinha ficamos acomodadinhas escutando a senhora. Não se incomode que a senhora não cria rabo contando história de dia. Eu não deixo. Ó seu Rodolfo, não faça baruaí.
D. Amélia gritou pelo Alfredo que apareceu, silencioso e surpreendido: sua mãe contando história?
O menino sentou-se no tamborete. Andreza veio buscá-lo para sentarem perto de Mariinha. Ele franziu a cara e conservou-se no banco.
D. Amélia, na sua voz clara, de costas para o menino, [188] curvada sobre a máquina, ajeitando a bainha do vestido, foi contando que “era uma vez” um cego. Tinha três filhos. Mesmo assim cego, gostava de caçar. Um dia apontou a arma na direção de um galho onde estava uma pomba. A ave bateu a asa e falou:
— Não me atira que eu te ensino um remédio pra tua cegueira, meu velho.
O velho abaixou a arma.
— Então me ensine.
— Mande buscar a folha do lilás no palácio das águas e ponha nos olhos.
Alfredo perguntou que folha era essa de lilás. Andreza fez um chiu de silêncio. D. Amélia embalada com a narrativa, quem lhe teria contado essa história — meu Deus, ah... a Antônia Bandeira... Bem. O velho com a arma no ombro foi para a casa, cabeça baixa, pensando.
Andreza ergueu-se para imitar o velho: Andando assim, d. Amelinha, assim? A cabeça baixa?
— Espera! — foi o grito de Alfredo — cala-te!
— E contou para a mulher e os filhos, O mais velho então disse: Pai, vou buscar a folha de lilás.
— Ora, quem não ia? Perguntou Andreza. Mariinha com a cabeça no colo dela, tinha os olhos arregalados para a mãe.
— ... Pai, vou buscar a folha de lilás.
— Não vale a pena, meu filho, é longe...
Rodolfo interrompeu: o velho estava era fingindo, bem que ele queria. Velho safado.
— Mas até tu feito uma criancinha, não, Rodolfo — falou Alfredo que se aproximou da máquina de costura.
D. Amélia, com os olhos na costura, continuou: Pai, eu vou. E o velho então perguntou: Bem... Queres muito dinheiro e pouca bênção ou muita bênção e pouco dinheiro?
Aí Andreza interrompeu novamente a história e de pé, com as mãos na cintura, defrontou-se com Alfredo:
— Agora me diz, que tu queria? Muita bênção ou muito dinheiro? Me diz depressa que tua mãe não quer contar o resto. Não tenho força para evitar que ela crie rabo contando história de dia.
[189] D. Amélia esperou. Alfredo não respondeu e olhou para a mãe que compreendeu e não sabia por que ligava essa história à próxima viagem do filho e a certeza de que ele estudaria, seria o seu arrimo... Muito do pai, mas menos filósofo. Menos filósofo. De repente se lembrou da Marialva, a filha cega do Major. Falavam da chegada de um sábio estrangeiro em Belém, especialista em olhos. Major Alberto lhe falara em mandar a filha. Dependia de dinheiro. Vendesse o gado.
— Conte, d. Amelinha.
— Onde é que estava?
— Quando o pai perguntava ao filho mais velho se ele queria...
— Ah, sim. O pai perguntou se ele queria muito dinheiro e pouca bênção ou muita bênção e pouco dinheiro.
— Muito dinheiro e pouca bênção, disse o filho mais velho. A mãe preparou um balaio de comida e deu ao filho mais velho que foi-se embora. Quando passava por uma casa muito pobre viu lá dentro uma mulher, muito doente, com um filho feridento, com fome.
— Feridento, d. Amélia?
E o olhar de Andreza foi como uma agulha no coração de Alfredo, que sentiu as marcas de suas feridas se abrirem de novo nas pernas, sangrando. Viu as pernas de Andreza, manchadas de terra, sim, mas limpas de cicatrizes. D. Amélia não percebeu e continuou:
— Meu filho, disse a velha, que tu leva de comida?
— Só pedra, mea velha, mentiu o rapaz.
— Pedra há de ser, disse a velha.
E quando ele, cansado da caminhada, arriou o balaio e foi comer, a comida era só pedra.
— Arre, exclamou Andreza, e Mariinha tinha os olhos cerrados, escutando ou amolecida. Alfredo viu na viagem do rapaz a sua viagem. Muita bênção e pouco dinheiro. O dinheiro do porco e da vaca Merência. Muita bênção. Pouco dinheiro. Sentia a luta entre essas duas palavras. Bênção. Dinheiro. Sem dinheiro...
Sua mãe virou o pano, deu uma passada de charuto nos dentes. Olhou para Mariinha e indagou?
[190] — Quer mesmo se deitar, mea filhinha?
Mariinha, assustada, abriu os olhos. Não. Pediu com voz fraca que continuasse a história.
— Pedra há de ser, repetiu d. Amélia. E assim o filho do cego nunca mais voltou.
Passado tempo, o segundo filho disse ao pai:
— Já que o meu irmão mais velho não voltou, irei ver a folha do lilás.
— Ora, não vai, meu filho. É tão longe. A pomba me enganou.
— A pomba? Foi a pergunta de Andreza que escondeu o rosto entre as mãos, rindo. D. Amélia olhou o filho, sacudindo a cabeça, com dois dedos nos lábios para não rir também. E continuou enquanto Andreza se refazia e inclinou o ouvido atento, os olhos pregados em Alfredo.
— O segundo repetiu: Pai, eu vou.
— Então seja feita a tua vontade. Queres muito dinheiro e pouca bênção ou muita bênção e pouco dinheiro?
— Muito dinheiro e pouca bênção.
Aí Alfredo deu o seu aparte:
— Mas a besta não via o exemplo do mais velho? Ele não sabia que não podia ser muito dinheiro?
— Ora, Alfredinho, podia ser que o filho mais velho estivesse rico, rico, rico que se esquecesse de voltar. E o segundo queria ter a mesma sorte.
— Tu vais ver a sorte dele. A tua sorte, porque contigo acontecia também a mesma coisa.
— Tu sabe, tu sabe de mea vida? D. Amelinha acomode esse seu filho. Ele quer a minha infelicidade. A senhora já reparou nisso?
D. Amélia riu, esperando que a discussão terminasse.
— Bem, quando o rapaz passava pela dita casa, a velha perguntou o que ele levava no balaio.
— Espere, d. Amelinha, a mãe dele fez um balaio de comida também para a viagem, não? Então, espere: Faz de conta que sou a velha. Estou na porta da casa e vou arremedír a velha: “Meu filho, que tu leva aí de comida neste balaio grande?” Bem, d. Amelinha, pode continuar.
[191] — Só carvão, mea velha.
— Carvão há de ser, repetiu Alfredo antes que d. Amélia falasse: Carvão há de ser.
Alfredo associou a imagem do carvão a cor de sua mãe. Era ma velha comparação nascida do velho sonho em que via as mãos la como carvões. Carvão há de ser, repetiu mentalmente. Se tivesse ele nascido também da cor do carvão? Carvão era a morte dos dois filhos, era a viagem perdida. Quem seria aquela velha?
— Tal e qual como o mais velho — disse d. Amélia — o segundo filho nunca mais apareceu.
— Vendeu o carvão e ficou rico, acrescentou Andreza.
— O filho mais novo...
— Agora é o Alfredinho que entra na história, interrompeu Andreza.
— O filho mais novo ainda era um menino...
— Eu não disse que era um menino, que era Alfredo?
— Meu pai não é cego, sua miserável.
— Que é isso, meu filho, assim não conto a história. Que é isso. Mariinha, está escutando? Ai, ai, estou achando a minha filha mole-mole...
Mariinha fez-se um pouco mais esperta. Os dois se acomodaram.
— Bem, o filho mais novo respondeu: Pai, quero muita bênção e pouco dinheiro.
Os pais chorando abençoaram muito-muito o filho que partia.
— Os dois velhos ficaram sozinhos... lamentou Andreza. Mariinha concordou com um hum-hum de pena.
— Ao passar pela mesma casa, o menino apeou do cavalo, deu com a criança feridenta, tratou, pensou as feridas.
— Ele levava algodão e tudo? indagou Andreza.
— Repartiu com ele e a velha a comida do balaio.
A velha, então, ensinou o caminho da folha de lilás.
— Vá por esse caminho direito. Não se incomode. Se passar entre duas pedras, saberá que são duas comadres...
[192] A narradora deteve-se, sua memória falhava. Antônia Bandeira lhe contara essa história em Muaná e em que noite? Quando? Num velório ou num serão de tear?
E foi quando major Alberto chegou da Intendência.
— Credo. Onze e meia. Deus do céu! Queimou panela e tudo, aposto. Eis aí em que deu a folha do lilás.
E d. Amélia saiu correndo para a cozinha.
Major Alberto foi atrás e lhe disse que resolvera vender o gado para mandar a filha cega a Belém. A irmã dele lhe escrevera. Eram uns cinco contos de réis a operação e o internamento no hospital. A princípio, Marialva não queria ir. Tinha que vender o gadinho.
— Para quem?
— O Lustosa. Ele me ronda há muito tempo. Está comprando gado de todo o mundo. Ao menos, psiu, a gente experimenta. Dizem que é um sábio. Vai demorar uns 20 dias em Belém.
— E você não pode assistir à operação? Não pode embarcar?
— Não. A minha irmã vai, tem mais experiência. Marialva vai com a irmã e a tia. Amanhã...
— Mas, olhe, seu Alberto... Venda bem o seu gado. A bom, eu vou fazer primeiro o Sebastião avaliar com o seu Salu. Deixe por minha conta. E. Senão o dr. Lustosa leva o gado de graça.
Ficou só, na cozinha, com a convicção de que a filha cedo despertaria e certa, até orgulhosa, de que venderia o gado muitíssimo bem. Sorriu da história que não terminara. Muita bênção e pouco dinheiro. Como era compreensivo o olhar de seu filho. Tinha de combinar a viagem dele, mas esta dependia unicamente do porco, da mesada, porque o gado... Até a vaca Merência seria incluída na venda. Estava contente, pelo menos as filhas de seu Alberto não poderiam queixar-se dela. Do gado nem a Merência. Coitada da vaca! E seu filho andava convencido de que o apurado da Merência daria benzinho para comprar-lhe os fatos, os sapatos, os primeiros livros. Pôs-se a avaliar: as vacas em número de [193] nove, a duzentos mil-réis, cinco novilhas; dois garrotes; os quatro os bezerros. Ao todo apuraria uns cinco contos. Daria para a operação de Marialva. Teria resultado? Ou não seria uma crueldade para a cega, levando-a com aquela esperança e trazendo-a a mesma cegueira e sem o gado?
Pela primeira vez, julgou compreender que poderia lutar contra aquilo”. Sentia-se bem, “outra”, restituída àquela Amélia que assava perus, batia chocolate nos serões em que o Major fabricara e compunha programas. Sentia-se perfeitamente mãe de Alfredo e Mariinha. O chalé perderia o gado. Major Alberto, secretário da Intendência, passaria a ser mais pobre do que aparentava. Teria que lutar. Muita bênção e pouco dinheiro. Via-se no passado, de pé no chão, pretinha de joelho ralado de tanto subir nos troncos de açaizeiro... E agora, diante dela, o filho que queria partir, e queria muito saber.
Ergueu-se repentinamente e foi à despensa. Retirou a garrafa, quase cheia, atrás do armário, pendurada num prego da parede. Destampou-a, aspirou-lhe o cheiro, mordeu os lábios, virou a cabeça com fingida náusea e algum esforço para atirar a garrafa ao chão. Logo um débil desejo, a aguda sede de um golezinho só, a prova, a umidade da boca da garrafa em seus lábios secos. E no entanto, continuava negando, obstinada em dizer sempre, melhor, em ocultar sempre que bebia. Sebastião descobrira, apanhara um moleque, trazendo a garrafa. Mas o irmão não se atreveria a falar-lhe. Responderia com a mão na cara, o expulsaria chalé.
Naquele poço em que mergulhava, não tinha um confidente, apenas cúmplices. Marcelina, Inocência, os moleques e em breve, provavelmente, a Andreza. Traziam-lhe garrafas embrulhadas, nos enrolados nos sacos, deixadas ao pé da cerca, ocultas nas moitas de capim ou sob a palha seca. Uma vez, derramou a bebida no irrigador para não ser apanhada em flagrante pelo Major. Fingiu que ia dar uma lavagem. Nem soube explicar-lhe. Major, não reparou. Bebia, sombriamente, atrás das portas, atrás do armário, aos sustos, atrás do banheiro, olhando para todos os [194] lados, na sentina, embaixo da casa, sempre atrás de alguma coisa. Não sabia renunciar àquilo e não tinha coragem de afirmar que bebia ou de simplesmente beber à frente de todo o mundo.
O medo de que Major a surpreendesse fez trancar a porta da despensa. Não era medo. Era... teria de mentir que não era. Diria obstinadamente que seu Alberto, ao falar, ao acusá-la, não passava de um mentiroso, de um caluniador.
Medo seria se seu filho batesse agora na porta e quisesse ver o que ela estava fazendo ali. Batesse gritando: mamãe, abra. Abra!
Esses gritos imaginários cresceram em sua cabeça. Suas mãos tremiam. Abra! Quis virar a garrafa e hesitou coçando a testa molhada de suor. Não queria reconhecer que era fraqueza, seu orgulho se empapava de dor e de remorso como uma esponja. E isto aumentava a sua prevenção contra todos. A ninguém, nem a seus cúmplices diria. Estes comprariam garrafas e garrafas, quantas quisesse sem que lhe ouvissem da boca, que bebia. Era sempre um banho, para os cheiros, queimar a cachaça para a garganta, esta ou aquela infusão.
Foi à janela, derramou rapidamente o líquido e as últimas gotas que pingavam da garrafa ela as aparou com a mão em concha, a mão trêmula. Levou os dedos aos lábios com a avidez de uma criança e logo bruscamente deixou tombar a garrafa no quintal, já voltada para a voz que a chamava, à porta do corredor:
— Amélia, tua filha ficou deitada. Está com febre.
Sentiu-se refeita, calma, dando razão a seu Alberto: não passava de um constipado, era sol e lama quente.
— Fique, mea filhinha, um instantinho assim que a febre passa já-já. Vou molhar o pano no vinagre pra lhe passar na testinha, viu? Está me ouvindo, sua dengosa? Dengosa, então, meu Deus.
D. Amélia fechou as janelas do quarto sob os protestos da filha.
— Mamãe, não, não. Não feche. Fica escuro. Não quero pano com vinagre. Estou com medo, quero água. Não quero purgante. Não chame seu Ribeirão. Ele é um bicho, mamãezinha. [195] Fique aqui, mamãe. Então deixe eu ir pro colo do papai, lá. Eu não preciso comer, fico só no colo dele, olhando. Sim, mamãe?
Ela deitou a filha no colo, alisando-lhe as costas e o cabelo que recendia a mutamba, ninando-a de dengosa, chorona, aborrecida... E não sabia como principiar o tratamento. Como se fosse a vez que tivesse de cuidar da filha, pensou, hesitante, em chamar o seu Bioche, aquele francês crioulo metido a médico, em trânsito pelo Arari. Ou Ribeirão? Tinha primeiro de mandar a comadre Marcelina. O termômetro quebrara-se. Mariinha continuava falando muito, não mostrava cara alguma de doente. Tão gordinha a sua filha. Mas que dengo! Aquilo era mais enjôo, febrinha do sol.
Apalpou-lhe a testa, pegou-lhe o pulso.
— Hum, a febre alteia.
Passaram minutos, Marcelina chegara e punha a chaleira no fogo, a febre aumentou.
— Mamãe, abra a janela. Não quero escuro.
Nisto, um apito de lancha. D. Amélia fez um gesto de resolução. Aquela febre crescente poderia ser indício de grave doença. deveria facilitar. Mariinha tão dificilmente se criara. Quando nasceu, parecia de sete meses. “Não se cria”, diziam todos. Ela afirmava que sim e a criou. E agora por que não embarcar imediatamente para Belém e levá-la ao dr. Gurjão? Major, com seus vencimentos se atrasando, diria que o caso não era para tanto. Coitado, cheio de esperança diante da próxima operação da filha, decidiu-se para isto a vender o gadinho inteiro. Todo o gado pelos de Marialva. Valeria o sacrifício? Há quantos anos cega...
Tinha, portanto, que emprestar dinheiro para a viagem de Mariinha. Mas de quem?
Outro apito de lancha.
Talvez passasse logo aquela febre. Questão de horas. Não havia acontecido tantas vezes? Desobediência dela. Lama quente. Amanhã estaria de novo pelo quintal, impossível. No entanto, por esse susto, por que esse medo? Aproveitaria a viagem para [196] levar o filho também. Venderia o capado. Estaria no consultório do dr. Gurjão, amanhã, cedo.
Fora assim há três anos. Mariinha piorara. Ribeirão, fedendo, a voz de catarro, desenganara a criança. A lancha apitou. Arranjou a viagem em três tempos e salvou a filha.
Agora, ou por hesitação ou certeza de que a enfermidade não tinha importância ou porque considerava difícil obter o dinheiro...
Espantou-se com a voz de Alfredo junto à rede:
— Mamãe, é a “Lobato”. Não quer que mestre Sílvio espere? Não é melhor?
E sentado aos pés da mãe, os olhos em Mariinha:
— Quer que vá buscar o termômetro de d. Glorinha? Mestre Sílvio saltou. O correio ainda não mandou a mala. Tem tempo. Posso avisar mestre Sílvio?
Apenas o silêncio. Os olhos crescidos de Mariinha. Alfredo ergueu-se, circulou pelo quarto e voltou a sentar junto à rede.
Tinha vindo do quintal, depois de uma longa entrevista com a vaca Merência. Soubera que seria vendida para custear-lhe a viagem, ignorando a nova transação planejada pelo pai. E foi ver a Merência, o pelo sujo, a idade pesando-lhe nos lombos, o ubre murcho, sem aquele alvo encanto dos primeiros tempos. Idosa, enrugada, cheia de malhas, uma ausência de surpresas nos olhos, cansada de parir e de dar leite. Valeria a pena vendê-la ou talhar sua magra e velha carne no mercado?
Alfredo passou a olhá-la com inexplicável desassossego. Ela uma vez só olhou para ele. Terá adivinhado? Saberá que vai ajudá-lo a ir para o colégio? Chamou-a com um pedaço de fruto da cuieira. Ela veio. Parou diante dele com os grandes chifres, tão grandes quanto mansos. Para que essa enorme cabeça, se não pensa, se não tem juízo, se não poderá falar nunca, se não compreenderá que vai ser vendida? Acontecerá algum dia que a vaca possa falar?
— Merência, vamos te vender. Vai-te embora. Preciso ir estudar.
Com uma súbita impiedade de menino, desejou perversamente que ela compreendesse tudo, sentisse com ele o vexame de vê-la partir e aquela dorzinha que se insinuava por entre as [197] demonstrações de indiferença e de vontade de torturá-la.
— Es a vovô do curral. Precisas descansar.
Perguntará ao Didico se não podia aproveitar a cabeça para o boi “Caprichoso”.
— Merência, merenciana...
Deu-lhe a polpa da cuieira. Ficou olhando a cidade naquele dorso rajado, a cidade com as suas torres, as suas fumaças, as suas carroças de boi e bondes, não a que vira quando menininho foi a Belém. Gostaria de levar uma fotografia da Merência.
— Merência, cada teus filhos... Eles não se incomodaram contigo. Como posso me incomodar contigo se não sou teu filho?
Está velha, disse. Não compreendia nada. Daria um urro amanha ao receber a faca no pescoço, um urro que seria abafado pelo apito da lancha em que ele viajaria.
— Boa tarde, Merência, quem mandou nasceres vaca? Es o meu colégio, Ouviu? A minha viagem, ouviu? Boa tarde, velhota.
Deixou a Merência, alegremente; nada diria a Andreza. E subiu para ver, no quarto, que algo havia caído, de novo, sobre o chalé.
— Fale, mamãe, aviso mestre Sílvio? A senhora deixou quebrar a garrafa? Que tinha dentro? Apanhei os cacos porque amanha Mariinha podia pisar...
Queria a viagem menos por causa de Mariinha do que pela inesperada oportunidade que a febre dela oferecia: acompanharia a mãe, rápido seria vendida a Merência. Aquela febre, naquele instante, deveria subir mais, para que sua mãe se decidisse, o levasse em sua companhia e o deixasse afinal nalguma casa em Belém.
Mariinha não estava em perigo, não fazia mal estar pensando assim, ninguém como ele para desejar sua saúde, vê-la sempre fora dos perigos, ninguém. Por que sua mãe não decidia?
Se pudesse, pediria a Mariinha que fingisse estar pior, que alarmasse sua mãe. Assim partiriam.
Alfredo coçou a cabeça, desorientado e indagou de repente a si mesmo: não estaria desejando o seu bem a troco de mal para Mariinha? Confusamente comparou os seus pensamentos sobre Merência com os de agora. Arrastava a sorte da irmã a mesma [198] sorte da vaca. Seria pecado desejar o que desejou?
Sua mãe contemplava a filha. O filho acompanhara os cacos como para atirá-los dentro dela. Marcelina apareceu com panos para o vinagre.
Em vez de uma decisão para a viagem, d. Amélia prometia, com uma súbita aceitação de suas culpas, que voltaria a ser o que era quando nasceu Mariinha. Logo se assegurava de que Mariinha estava livre dos maiores perigos. Soubera criá-la, havia de vê-la na Escola Normal. No entanto, quando quis que major Alberto lhe trouxesse a garrafa de vinagre sentiu-se tão perturbada que não sabia onde deixara a garrada. Teria utilizado a vasilha... Sua filha falava. Chorava para não tomar remédios e queria as janelas do quarto bem abertas.
— Não chore, filhota. É uma febrinha.
E gracejou:
— Anda o dia inteirinho no sol, na lama, pisando no chão quente. É isto. Se lembra do cego e do menino que foi buscar a folha de lilás? Quer que eu termine a história? Agora me lembro. Quer?
— Não, não. Não quero que a senhora me dê purgante nem lavagem. Sim, sim?
Embrulhou-a — Alfredo trouxe água —, passou o pano com vinagre na testa. Tentou fazê-la adormecer. Mariinha pediu que ela cantasse. D. Amélia cantou baixinho. A lancha apitou.
Ela e o filho entreolharam-se a modo de surpreendidos. O menino baixou a cabeça, atentando bem no barulho da lancha descendo o rio, passando defronte do chalé, deu três apitos. Raspando as asas na janela fechada, revoavam passarinhos lá fora. Uma vaca urrou perto do quintal, assustando a doente que começou a falar em passeio, em boi brabo, na fada, na cobra, em Alfredo, no fogo que a queimava.
— Traga a medida do meu tamanho. Não quero ficar pequenininha. Mande trazer a luz. Estou com medo. Com medo.
A vaca urrou novamente. A Merência, será que agora compreendia?
[199] Alfredo atravessou o campo, ganhou o caminho do cata-vento, entrou na rua Boa Vista, crivado de remorsos, censurando a mãe porque não partiu, mas se convencendo que Mariinha estaria, à noite, suando, sem febre.
Procurou seu Bioche pelas casas conhecidas, no mercado, no cartório: seu olhar se escancarou ante o livro dos mortos, ali, sobre a mesa, como uma pedra de túmulo. Foi ao pardieiro onde aquele doente amarelo passava o dia tremendo, tremendo, o olhão aceso. Nem na tenda do ferreiro encontrou seu Bioche.
Dessa busca meio desesperada, uma cena o impressionou singularmente: ao passar pela casa do extinto tabelião Viriato, parou, cansado, sem esperanças. Viu através da janela alta que dava para a rua do Mercado umas velhas, na sombra do quarto, espiando-o. Velhas. Eram, sem tirar nem pôr, umas bruxas de pano. Tão imóveis e velhas na sombra, espiando-o como se lhe dissessem:
não procure quem não está. Mande d. Doduca fazer o enxoval do anjo para a sua irmã, é que é.
Alfredo estremeceu, entre o pressentimento e o medo. As velhas olhavam-no. Houve um momento em que elas pareciam suspensas do teto, bruxas, bruxas, mudas bruxas de mau agouro.
Ao passar pela casa de Salu soube que seu Bioche havia seguido na “Lobato”.
Entrou na sala mordendo os beiços, não querendo ver no rosto mãe o desapontamento e o remorso de não ter embarcado, senão teria de chorar diante dela, compreendendo, além de tudo, que Mariinha piorara.
D. Amélia chamou o Major. Precisava preparar uma lavagem.
— Não, não, mamãe. Tenho medo. Medo. E um bicho atrás da porta. No escuro. Seu Ribeirão, mamãezinha.
Deitou a filha nos braços do Major. O corpo era uma brasa, como se só agora o fogo daquela noite a estivesse queimando.
— Um banho, psiu. Um banho...
D. Amélia trouxe o irrigador cheio que Major suspendeu junto a parede. Com a filha de bruços em seu colo, pediu que Marcelina segurasse as pernas da menina e foi feita a lavagem.
Major arrastou o bacio pequeno. D. Amélia esperou o efeito [200] — por que demorava? — com a convicção de que em breve teria de agüentar as manhas da filha, já sem febre, reclamando chá com pão torrado.
Na varanda, alisando a cabeça da Minu, Alfredo esperava. Rodolfo não viera trabalhar. Um silêncio desceu no mormaço da tarde e o chalé mergulhou num total isolamento do mundo.
D. Amélia, de olhar parado sobre a filha, numa dura tensão, segurava-lhe o pulso em fogo. Por que tanto medo, por que tanto susto, não tinha acontecido tantas vezes?
Amparou-lhe a cabecinha mole. Alfredo quis perguntar-lhe se o pulso estava no lugar. Se não estava subindo. Pensou em Nossa Senhora, nos Três Deuses, que se misturavam nas suas obscuras súplicas. Via seu pai andando na saleta, na mesma calma, e encontrou cifras no papel sobre a mesa, número de reses, nome de vacas e compreendera que o pai decidira vender o gado. Inclusive Merência? E o nome escrito: operação? Que operação? Como? Viu-o folheando os novos fascículos de Santa Rita de Cássia.
No quarto, ao abrir de leve a porta, sentiu ali escuridão, silêncio, delírio, a mãe numa misteriosa contemplação sobre a filha.
Assim ouviu, como se fosse um clamor ao longe, alguém que quisesse atirá-lo da janela para o quintal, ouviu a voz quase tranqüila de Marcelina que avançava de braços estendidos para a rede:
— Minha comadre Amélia, ela está expirando, me dê sua filha, deixe ver ela, mea comadre...
D. Amélia estreitou a filha em seus braços, sacudindo a cabeça que “não, não”. Alfredo escancarou a porta e deu um grito. Major Alberto surgiu com os fascículos na mão e Marcelina saiu correndo para comprar uma vela. A vaca urrava no quintal. Major curvou-se sobre a filha, tentando pegar-lhe o bracinho e falou:
— Isto, psiu, é uma espécie de ataque. Passa. Mande ferver, psiu, um pouco d’água. Para um escalda-pé.
D. Amélia envolveu a filha no lençol, ergueu-se com a menina nos braços e disse:
— Forre a cama pra colocar lá o corpo.
E ainda podia ouvir os soluços de Alfredo na varanda.
[201] Ao vê-la fechar o pequeno esquife de flores, Lucíola, que a observava maldou, desapontada: Que mãe... nem ao menos uma lágrima. Até me admira que não esteja... Ah, meu São Expedito, que será de Alfredo?
Enxugou os olhos vermelhos, como se estivesse só na varanda cheia de gente. Não chorava por Mariinha, enfim era um anjo a mais, chorava porque... Nem sabia. Também era necessário mostrar sentimento diante de Alfredo para que este a comparasse com a mãe. Que significava aquela morte súbita? Por quê? Teria sido mais uma de d. Amélia, engano de remédio, num daqueles instantes seus que abalavam o chalé? Um impulso a levou a aproximar-se do menino, mas se conteve. Alfredo, que deixara de chorar, franziu a testa, voltando-lhe as costas.
Ele via a mãe transportada aos dias do passado. Era uma nova derrota, sim, mas ressurgia-lhe a mãe que não se deixava abater nem chorava. Nesse intervalo de pranto e de insubmissão ao que acontecia, o menino observava-lhe uma atitude que não sabia definir e que era o readquirido domínio de si mesma. Isto aboliu para ele as impressões confusas do momento, o sussurro das moças na varanda, a voz dos adultos na saleta — para fazer-se um silêncio em que seria possível apenas escutar os sentimentos da mãe. Viu-a só, com um negror pálido, majestosa, à cabeceira daquele caixão branco, como uma fada negra que, com um gesto, poderia levantar daquele berço de rosas e violetas, a adormecida menina.
O menino compreendia que ela não tinha nenhuma resignação em seus olhos enxutos, em seus gestos enxutos. Seu olhar refletia a mesma espavorida surpresa com que olhara o filho afogado, refletia também as noites, os anos em que desafiou e venceu a força que agora lhe arrebatava a filha.
Ela voltou-se um pouco, procurando Alfredo. E este sentiu que estava mais protegido, não teria de escapar daquelas mãos negras, sua mãe havia de curar-se também. Mas isto logo lhe doeu como se tivesse sido culpado da morte de Mariinha.
[202] Major Alberto aborreceu-se um pouco porque esquecera de cobrir os prelos, as caixas de tipos, a máquina de cortar papel. Estranhos poderiam bulir na tipografia. Esse aborrecimento era um dos pretextos para esconder o seu estupor, embora estivesse habituado à morte de vários filhos. E pensava na operação.
Conseguira vender o gado naquela noite porque dr. Lustosa tinha pressa e Amélia em meio do velório não recuara um só tostão no preço. Quatro vezes foi e veio Sebastião levando e trazendo ofertas. Salu confirmou a justa avaliação, dr. Lustosa cochichou que a “interferência da preta impedia a possibilidade de um preço menos exagerado”.
— Com a filha morta dentro de casa imagine! Enfim, diga ao Major que aceito.
Guardara o dinheiro da operação, perdera o gado. Perdera também Mariinha. Amava-a como uma neta. Dera-lhe muitas vezes, é certo, a emoção de jovem pai de primeira filha, descobrindo, agora sabia, reservas ate então desconhecidas de paternidade. Tinha para ela uma amadurecida ternura que não tivera, não soubera ter, com os outros filhos e lhe transmitia a vitalidade de um homem para quem o gosto da vida continuava intato. Eutanázio lhe dera uma sensação de fracasso, de sombria perplexidade sobre o destino do homem, os fins da existência e sobre aquela paixão por Irene — até a cena final da mulher grávida diante de um moribundo. Mariinha, hoje melhor sabia, reavivava-lhe alguns sonhos, impelia-o a uma mudança de vida. Que mudança? Indagava em seguida.
Foi ao quarto, enxugou o rosto. Por acaso passou pelo velho espelho fosco, defronte da janela, que refletia, como de uma paisagem muito distante, verde trecho da margem do rio sob um azul tão tranqüilo. Ficou contemplando por algum tempo aquela feliz insensibilidade da natureza.
Vestiu o paletó que d. Amélia lhe aconselhara, voltando para ver as moças retirarem o caixão da menina de cima da mesa e sentir que em lugar deste colocavam o seu caixão de velho.
O enterro tomou o caminho dos campos.
Major Alberto deitou-se na rede — terá de mandar o dinheiro [203] amanhã, cinco contos e seiscentos mil-réis. Lembrou-se dos olhos arregalados de Alfredo ao saber, com certeza, que Merência seria vendida também. Tudo isto na mesma noite, dentro do velório alegre de moças em torno do anjo. Pôs-se a olhar o teto, vendo os ratos correrem nas telhas iluminadas como se atravessassem uma cena de lanterna mágica. Voltou a pensar naquela paisagem vista através do espelho fosco e através de seus 58 anos. E isso não o fazia distinguir mais a morte de uma criança, da morte de um inseto. Sentiu-se um pouco aliviado, uma espécie de candidez dominou-lhe o espírito e pôde então acompanhar a aventura pelo telhado daqueles ratos para os quais andava preparando o m mortal dos venenos. Onde Amélia o teria guardado? Repentinamente, com a mão sobre os olhos, supôs que Mariinha... Logo sorriu, de leve, afastando a suposição absurda e passou novamente e interessar-se pelos ratos em suas incursões pelo telhado. Viu o rabo de um, suspenso, e outro correu ligeiramente, tornando-se grande na luz que as telhas coavam. Uma aventura essa, a dos ratos, tão insensíveis como a paisagem do espelho, refletiu vagamente. Mas por que? Foi a sua brusca pergunta que lhe escapou dos lábios.
O enterro saiu do chalé, às quatro horas e três minutos, observou Alfredo no relógio despertador que lhe pareceu tão velho e fora do tempo. D. Amélia, entre as mulheres da redondeza, ficara no meio da varanda junto à mesa de jantar. Ali permaneceu tocando numa ou noutra pétala esquecida, nas folhas deixadas, num pedaço de fita, envolvida no cheiro das flores, da fazenda nova do derradeiro vestido da filha.
Alfredo não quis ver a irmã no caixão. Com a fixa lembrança da noite em que ela se queimou, correu para a mãe e agarrou-se a seus braços, tremendo. Sua mãe acariciou-o. Alguém arrastava bancos na cozinha, não se sabia por que Minu ladrava no quintal. Os passarinhos, revoando, chocavam-se na parede de madeira do chalé. Teriam compreendido também?
Dirigiu-se à sala e olhou novamente o relógio. Gostaria que o relógio se dispusesse a trabalhar andando para trás até a [204] primeira hora em que nasceu Mariinha. Que desigual era o tempo! As horas não possuíam a mesma medida de duração, que semelhança existiria entre a hora do nascimento de Mariinha e a hora da febre?
Havia agora passado cinco minutos apenas e Mariinha não estava. Cinco minutos. Parou o relógio.
Atravessou a varanda, desceu a escada dos fundos, entrou pelo curral — este vazio para sempre — e saiu pela porteira para alcançar o enterro já em pleno campo.
Os sinos espalhavam os risos, as palavras e a vida de Mariinha pelo campo, despencando as flores do algodoal brabo, entre as negras e luzidias iraúnas que em bandos acompanhavam o enterro. Os cálices murchos tentavam recolher aquela vida dispersa, as abelhas do pequeno bosque próximo procuravam apanhar também aquele pólen que os sinos espalhavam alegremente. Alfredo pensou nas mãos do seu Mané Leso, o sineiro, pesadas quando tocavam a defuntos e leves para anjos.
Caminhava, colhendo, nervosamente, flores de batatarana como lilases, sentindo-lhes a delicadeza que sentia no cabelo da irmã. Colocaria aquelas flores esmagadas e sem perfume sobre a cova. À lembrança deste nome, parou, chorando. Lucíola correu para ele.
Amparou-o, disse-lhe palavras que ele não entendeu. O seu menino voltava com aqueles mesmos soluços de antigamente e consentia que a sua cabeça pousasse em seu braço. O sino enchia de sons as flores, as folhas e as poças d’água, que refletiam pontas de vestidos, rostos de crianças, pernas nuas e nuvens. E o enterro caminhava como uma ciranda.
Depois o sol descobriu-se, o caixão brilhou, os ramos de flores nas mãos das acompanhantes tornavam-se aos olhos de Alfredo grandes e pintados, em relevo sobre o campo. As meninas pulavam as poças como se pulassem na corda ou quisessem saltar sobre as nuvens brancas que fugiam do sol.
Andreza aproximou-se dele e tocou-lhe no braço, sorrindo. As moças sorriam, rosadas, com seus vestidos de festa ou mesmo pálidas, tinham fitas no cabelo, carregando o féretro como se ganhassem uma caixa de boneca. Doía-lhe a graça que tinham, a [205] alegria que punham em seus movimentos, a mesma alegria com que apanhavam bacuris e tucumãs na mata próxima do cemitério. Afastou-se de Lucíola e Andreza o acompanhou. O caixão se distanciava, Alfredo comparou-o às caixinhas de segredos, enlaçadas de fitas, dos leilões do arraial. Para ele era segredo o que estava ali encerrado, a mudez de Mariinha, sufocada entre flores. E assobiando, esticando baladeira, baganas na boca, e entre eles um que empinava uma curica, os moleques espiavam passarinho, rotos e festivos tal qual em tarde de procissão.
Vendo os cavalos deitados debaixo da árvore e se lembrando de Merência, Alfredo acreditou que os animais tinham maior compreensão para com aquele enterro. Os sinos divertiam-se, tocando. E isso como que excitava as moças que pareciam noivas e dançarinas, o caixão leve nas mãos, saltando sobre as terroadas e as moitas, com o vento suspendendo-lhes os vestidos e os cabelos.
Virou-se para Lucíola que tinha o rosto branco-branco, pó de arroz ou tapioca, para esconder as manchas, e suava ao sol. Com o grande penteado de baile. Caminhava de sapato alto, tentando caminhar como se estivesse na cidade.
Entraram numa zona de capões, seguindo os caminhos do gado. Andreza varava os cipós como em brincadeira de corrente na roda de meninas e vinha com o cheiro das folhas machucadas, mordia as folhas. Os dentes iam se tornando esverdeados. De repente, tirou os sapatos. Lucíola ralhou. A menina queixou-se de um calo e pôs-se a correr e a saltar. Caiu uma vez na toiça de juqueris, foi preciso Lucíola acudir e tirar-lhe os espinhos. Alfredo aproximou-se e disse:
— Sem-vergonha. Não se respeita. Podia ser teu o enterro.
Ela sentou-se no campo, coçando as nádegas feridas. Calçou novamente os sapatos, pediu para carregar o caixão, o que foi recusado. Alfredo desejou, então, ser um homem para levar sozinho a irmã. Mandaria embora toda aquela gente. Sustentaria o caixão nos braços, com cuidado, como carregava para a mesa o monte alto dos pratos. E sentiu a mão de Andreza na sua, primeiro um dedo tímido, outro, depois a carícia dos dedos pela palma [206] inteira e os dois caminharam em silêncio. Lembrou-se de um enterro de criança que acompanhou por vadiação, atrás de murucis e borboletas, as vacas pastavam; uma vez o caixão ficou sozinho no capim. A vaca veio cheirar o anjo e as moças voltaram do murucizeiro aos gritos.
Quando a cerca do cemitério apareceu com o fundo escuro da mata, Alfredo estacou com o olhar espantado de Andreza sobre ele. Soltou-se das mãos da menina. Olhava em torno com o beiço tremendo. Diante dele estava já o cemitério. Fora, o mato verde, o campo verde. Dentro, as cruzes secas, os epitáfios secos, as secas sepulturas.
Primeiro, não quis entrar, hesitou uns segundos. Andreza puxou-o pela blusa. Quando o enterro chegou ao pé da cova, correu aos gritos:
— Quero ver a maninha. Não enterrem a maninha. Não. Deixem aí em cima. Aí.
Lucíola retirou-o de cima do esquife. Ele tentou resistir. Por que Nossa Senhora não a tirava do caixão? Por que era necessário enterrar a maninha? Não era anjo, não era, mas apenas defunto, tinha que ser metido dentro da terra, virar osso seco. Tinha que apodrecer, ninguém iria colocá-la entre os anjos. Estes não eram crianças da terra, não eram. Não queria ver a irmã no fundo daquela cova escuríssima, cheia de restos de raízes, com certeza minhocas, passeando à espera. A espera. Minhocas. Mariinha tinha pavor das minhocas. Pavor. Os vermes do padrinho do tio sairiam também pelo nariz de Mariinha? Debateu-se entre os braços de Lucíola e de Sebastião, pedindo que queria ver a irmã. Andreza pôs-se a chorar ao pé de uma lousa curva, com as mãos nos sapatos. As moças, entre lágrimas, sob a hesitação e em silêncio, olhavam os coveiros se prepararem. Os passarinhos brincavam entre as cruzes.
— Me deixem ver a maninha... Me deixem.
Tartamudeou, numa voz de súplica, aos soluços. Algumas moças desataram as fitas do caixão. Lucíola e Sebastião ergueram-no para que melhor ele pudesse vê-lo.
[207] Como crescera! Tamanho da moça que deveria ser, segundo a medida de sua mãe, o tamanho que ela não queria. De qualquer maneira, gostaria de se ver assim tão crescida. E com toda a gordura, de onde desabrochavam aquelas flores que enchiam o esquife. Toda a juventude se recolhera naquele rosto de menina, agora moça, porque os demais rostos dos que ali estavam, em torno dela, haviam envelhecido. Que faltava para abrir os olhos, mexe os lábios como quando dormia e lhe perguntar, espantada: que foi que aconteceu? E se ela, com seu beijo de irmão na testa, agora tão gelada, acordasse, se levantasse e saísse de braço dado com ele, correndo, espalhando as flores do caixão pelo campo?
— Desça, meu filho, cochichou Lucíola.
O caixão foi lançado na pequena cova como uma semente. Aquelas moças que se haviam afastado e não tinham assistido à cena, correram por entre as sepulturas e alegres atiraram terra. Não esquecerá um torrão, entre os dedos de uma menina, que se esfarelou e caiu tão pouco, mas tão bastante, tão doendo em se coração!
Lucíola levou-o dali e ele tapou o ouvido para não escutar a terra caindo sobre Mariinha. Andreza humilde, o abraçou, dando-lhe na palma da mão qualquer coisa como se brincasse de “tome este anel”. Ele maquinalmente apertou o objeto e só no chalé reparou: era a medalhinha com um cordão que Andreza andava usando no pescoço.
Mas ao guardar a medalha entre as roupas deixadas pela irmã na mala grande, estremeceu: deveria ter dito a Mariinha que o que enterrara, naquela tarde, era uma borboleta e tinha sido malvado traindo ao mesmo tempo um juramento. Dissera-lhe que plantava uma semente. Que semente? Perguntara-lhe Mariinha. Ele respondeu: Mistério.
Estaria ela sabendo agora o mistério?
Naquela semana, Andreza não o deixou, embora Alfredo nenhuma atenção lhe desse. Ela insistia, com um desejo informe de substituir Mariinha, ser agora a irmã dele, talvez mudando-se para o chalé. Ao mesmo tempo, com sua malícia, julgava impossível ser irmã. Por que não, marido e mulher, quando crescessem?
[208] Veio, uma tarde, com um presente para ele. Porém trazia consigo uma preocupação, um temor, quase remorso.
Ele desembrulhou o presente da menina: cajus. De onde furtara?
Do cajueiro de Lucíola, não, que era avarento de frutos. Se dava um, podia-se dizer que era um esforço ou o máximo de generosidade do velho cajueiro. Mas ao dar, aí, sim, caprichava, gordo e grave caiu na mão de Lucíola e desta, invariavelmente, para a mão do menino. Alfredo comia-o com afoita gulodice, guardando a castanha para assar nas brasas do fogareiro. Certamente os cajus de Andreza tinham sido furtados daquela casa à esquina da rua Boa Vista. A menina se especializava em furtar frutas e as poucas rosas que haviam em Cachoeira. Uma noite de ladainha, furtou uma rosa do altar da Padroeira para despetalar entre os pombos do pombal do promotor.
Mas o presente dos cajus não era apenas para agradar o menino, vinha disfarçar uma culpa de Andreza. Demorou em dizer, por fim confessou, primeiro brincando, depois temerosa. Furtara um pombo e passou todo um tempo a hesitar: matava? O pombo lhe parecia tão manso, tão confiante na sua mão. Mas matou. Assou-o, comeu e contando agora que havia comido o pobrezinho largou-se a chorar.
— Estava gostoso? Foi a inesperada pergunta de Alfredo, talvez para espicaçar-lhe o remorso ou medir o tamanho da perversidade de Andreza.
Ela, remelenta de lágrimas, sacudia a cabeça que sim e caia em soluços. Tinha pena também de ter escasseado ao amigo um pedaço do pombo. Alfredo não lhe dizia mais nada, indiferente àquela escassidão, tornando-se mais reservado ainda. Ficou por cima, superior, ao julgar o ato de Andreza, dando a entender mesmo que comer um pombinho... ele comer? ah, isso nunca.
E todos os agrados da menina foram em vão. Nem mesmo as lágrimas. Alfredo não falava de Mariinha diante dela nem chorava. Também não recorria ao carocinho para ressuscitar a irmã. Morte é morte e a perda de Mariinha era para sempre, por isso seria demais para o faz de conta. Faz de conta, sim, enquanto se [209] vive, se tem esperança, há futuro. E este, no menino, estava intacto, herdando da irmã morta a vida que ele teria de viver, as esperanças e os sonhos deixados por Mariinha.
[210]
6
6
Naquela noite, Alfredo voltava da margem do rio, só, sem Andreza nem carocinho.
Ao atravessar a vala seca, ouviu a discussão no chalé e deteve-se. Sua mãe gritava e batia os pés no soalho, O pai respondia alto e furiosamente. E toda essa altercação enchia o chalé como um estrondo. Alfredo sentou-se na pontezinha.
Associou a discussão à causa da morte de Mariinha e teve um momento de quase convicção de que tudo fora causada por “aquilo”. Teria saído isso na discussão que aumentava? Aquele chalé era uma ilha de atribulações e de ódios em meio do campo adormecido sobre o rio. O menino parecia ter atingido uma inesperada compreensão amarga, aquela compreensão que ele queria ter o mais cedo possível, mas para com os livros, os problemas do dinheiro, o amor.
Avançou para o chalé. Sentia-se naquela hora como um adulto, disposto a fazer calar os pais.
Pôde apenas fechar as janelas da varanda, do quarto e da saleta para que ninguém escutasse. Seu pai estava a ponto de esbofeteá-la. Mal articulava as palavras, andando de lado a outro, o passo miúdo, e descalço, curvo, as pontas da camisa de fora, velhíssimo. Sua mãe sentara-se no banco, com a perna esticada, meneando a cabeça e falando desordenadamente. As injúrias dele e dela chicoteavam o menino. Sim, menino. Viu-se fraco, tão sem autoridade, tão criança que fugiu e já lá fora ouvia a mãe:
— Bata, bata, se se atreve!
Correu pela pontezinha como se estivesse em carne viva, a [211] chorar baixo, vergado sobre a vala. Em pouco a discussão esmorecia. Um bando de marrecos passou rapidamente e isso lhe trouxe a lembrança de Mariinha, o seu riso, o seu medo de marrecas, e um silêncio tombou no chalé fechado. Logo se ouviu uma janela abrir-se, uns soluços se espalharam sobre a noite e depois a queixa rouca:
— Minha filha, minha filha.
Alfredo não se moveu, sentindo frio, e principiou a tiritar. Ninguém o chamava. Nem Lucíola. Andreza recolhera-se cedo com aquele golpe no pé que sangrava. Eutanázio, invisível na saleta onde escrevia para Irene, ria, por certo, vingativo, daquela situação toda de que era talvez culpado. O chalé, sem Mariinha, uma casa destelhada com dois estranhos em luta. D. Amélia continuava na janela, assoando-se, murmurando qualquer coisa. Alfredo entendia que todas as mães do mundo naquela hora estavam em paz nas suas casas. Seus filhos preparavam as lições para o dia seguinte, sabendo coisas que ele talvez para sempre ignoraria.
Algo de criminoso e de proibido acontecia no chalé contra ele, contra Mariinha. E era filho daqueles dois que se injuriavam e que lançavam ameaças um contra o outro. Seu pai escarnecia e humilhava sua mãe, de maneira definitiva. Sentia nele o branco e sua cor na varanda, sob a escassa claridade, imprimia maior domínio sobre aquela empregada negra em que se transformava d. Amélia, sobre aquela escuridão e desordem que vinham do rosto de sua mãe.
Alfredo procurou novamente a margem do rio que passava devagar, mas passava. Uma montaria de tolda descia em silêncio. Andou ao longo da margem sem nenhum alívio. Ao contrário, a paz do rio o atormentava mais e coçou as cicatrizes que ameaçavam abrir de novo nas pernas. Abanando os mosquitos, desejou que o seu paludismo voltasse para que pudesse preocupar os pais e assim os reconciliasse. Os gritos de sua mãe lá dentro enxotavam o colégio, a viagem, seus projetos, a própria recordação de Mariinha.
Atravessou os algodoeiros cheios de formiga-de-fogo. Os lagartos pulavam, sapos gemiam saltando pelas moitas e um [212] bacurau voou agoureiramente da Folha Miúda que o céu cobria com a Via Láctea.
Alcançou os fundos da casa grande do coronel Bernardo. Perto, cresciam carrapateiros. Desceu pela beirada e caminhou debaixo do casarão entre os esteios altos, sob o trapiche, até subir pela cozinha de onde só ratos fugiam, saltando sobre o forno em ruínas, as velhas mesas sem pernas, o montão de tijolos encostados a uma bojuda talha sem tampa.
Dirigiu-se à sala de jantar, suas numerosas janelas sobre o rio não tinham mais persianas nem trincos, arriadas ou cobertas pelas trepadeiras brabas. Ali, muitas vezes, o pai jantara, ao lado de fazendeiros e doutores. Criadas trazendo terrinas, perus assados, leitões de forno, compoteiras com doces em caldas, talhadas de melancia e então os vinhos? Um enorme candeeiro pendia do teto, aceso, quando os bicos de carbureto não queriam funcionar.
No parapeito do corredor, agora sob a erva de São Caetano, a mãe do coronel Bernardo, d. Leopoldina, mandava colocar as latas de coalhada. As portas dos quartos e das salas da frente eram de funda treva em que os vermes da ruína trabalhavam. Em todo o casarão defunto com o fedor de lixo, ratos e morcegos crescia a população dos fantasmas. No mesmo corredor, viu, certa manhã, o cadáver de um homem, vindo do sítio. Teria sido o pai de Andreza? No velório, velhos de rosto barrento jogavam baralho sobre uma esteira e cuspiam ao pé do morto.
Alfredo saiu com medo e apressado para ganhar a margem. Seria assim em Marinatambalo? Sabia lá o que podia acontecer num casarão daquele. Mas quantos meninos, que agora estudavam ou eram doutores, viveram ali? Teriam ouvido discussões dos pais?
Olhou o rio que se fechava na curva como se lhe dissesse: Por mim não sairás de Cachoeira.
Abriu devagarinho a porta do chalé. Na mesa da saleta, um catálogo aberto à luz do candeeiro. Os óculos do pai sobre a pasta de papéis. Um sinal a lápis vermelho marcava a página do relógio carrilhão. Talvez custasse o preço de dois anos de colégio.
[213] Demorou-se olhando o relógio que lhe lembrava belas estantes de livros, portas de igrejas, torres, salas de estudos. Veneza vista no livro de Blasco Ibañez. Seu pai talvez o estivesse admirando desejando antes da discussão. O relógio espatifara-se no coração do pai, enquanto, esquecido, o despertador marcava aquelas horas desgraçadas, fiel àquele desespero como velho empregado da família.
Encontrou o pai. na varanda. A luz do candeeiro caía-lhe sobre o rosto esbatido. Estirado ao longo da rede, que embalava, a mão inerte sobre a testa, seu pai estava mergulhado em completa calma. Alfredo, então, quis ajoelhar-se ao pé da rede ou inclinar-se para pedir-lhe a bênção. Mas o velho não deu com a presença do o, tão recolhido estava em seu silêncio. Pensaria no relógio carrilhão? Voltaria ao catálogo? Ah, sabia, pensava na operação de Marialva, deveria ser naquela noite. Esperava notícias. Para isto vendera o gado, vendera a Merência.
Idealizou a chegada de uma lancha com a boa notícia e a encomenda mandada por amigo: o relógio. Onde colocaria o carrilhão?
Passou a refletir: Com certeza pensa em mandar mamãe embora. E a mim também. Ele nos odeia. Ela não é sua mulher nem sou seu filho legítimo. E viu a mãe cuspindo naquela senhora branca, lutando pelo pai. Não tinha direito de ser um filho dele como os três filhos de Muaná? A ceguinha, lá no hospital, tinha seus olhos nas mãos do sábio...
Correu para a cozinha onde encontrou sua mãe, no escuro, pilando qualquer coisa.
— Que está socando no pilão, mamãe?
— Socando alho pra minha cabeça. Estou que não posso de dor de cabeça, meu filho. Sabe que a estas horas a filha dele já deve estar operada? E a minha filha, a minha, morta. Morta.
A voz dela afinava-se com um acento de lástima e de incoerência que espantava o menino. O cheiro do alho espalhou-se. Sua mãe, na sombra, pilava sem forças, boca angulosa, cabeça oscilante, como filha-de-santo, atuada.
[214] Alfredo entrou na despensa e tropeçou numa porção de garrafas espalhadas no soalho, as garrafas atiradas pelo pai, derramadas em presença dele, cheias de cachaça. Ali estavam, algumas quebradas. E o tio? Por que tardava? Temeu que o tio Sebastião viesse defender a irmã, atirar-se contra major Alberto.
Abandonando a mão de pilão, d. Amélia veio em busca dele e Alfredo sentiu-lhe o hálito tão forte como o hálito dos bêbados que se habituara a observar na taberna de Saiu ou no mercado. Essa semelhança entre a sua mãe e aqueles bêbados como o finado Dionízio, deixou-o estupefato e o abateu, a ponto de querer repelir os agrados dela. Confirmava-se a acusação do pai e a cena do banheiro. Era a bebida. Era. Sua mãe bebia. Sua mãe se igualava aos bêbados que vinham do aterro tropeçando, aos gritos, medonhos, caindo nas valas. Não esquecerá agora o dia em que foi à rua das Palhas e encontrou lá uma mulher embriagada gritando à porta de uma casa em ruínas, cuspindo e batendo a cabeça na parede, depois caindo no chão em prantos. Alguém lhe disse:
— Menino, não olhe isso. Tire a vista disso.
Agora olhava a mãe que voltara a pilar no pilão, com os movimentos cada vez mais parecidos com os da mulher da rua das Palhas. Por que ela não acendia a luz? Por que não procurava dormir? Aquela condição de sua mãe ofendia-o, ia ao fundo do seu desesperado orgulho, de sua vaidade de menino perante os moleques de pé descalço, sobretudo era como um escárnio às suas ambições do colégio.
Sua mãe continuando a pilar o alho, exclamou:
— Meu filho, tu vais, sim, pro colégio. Estamos sem ninguém. Seu pai já uma vez me deu no rosto. Agora avançou para mim. Se me desse, eu respondia com a faca americana. Ele que não se atreva a levantar a mão contra mim. Seu pai levantou uma infâmia. Meu filho, nós vamos embora. Uma vez me mostraste a fotografia do colégio onde tu queres estudar. Pois vamos. Minha filha morreu. Quem sabe se não morreu envenenada? Esse veneno de rato que teu pai anda espalhando pela casa talvez fosse a causa...
[215] Curvada sobre o pilão na cozinha, d. Amélia principiou a chorar chamando pela filha. Seu hálito enchia o chalé, na impressão de Alfredo.
— Pois eu vou fazer tudo para que você estude, para que saias daqui. Tu queres saber. Nada mais bonito que a sabedoria de uma pessoa. E vais para que não morras também. Minha filha morreu talvez por descuido meu. Fui eu a culpada. Eu vi minha filha no soalho. Não me incomodei logo. Uma vez ela disse que queria ir também estudar neste colégio que tu falas. Tu falaste com ela no colégio?
Sem esperar que ele respondesse, ela bradou:
— Se o teu pai se atreve, eu avançava para ele com a faca. Ele levantou uma infâmia. O pensamento dele está na cega. Na operação. A irmã dele vai é furtar o dinheiro. Ele mandou pra ela o dinheiro. Vais ver as contas. As contas.
De repente, despregou os cabelos, abandonou o pilão, passou a mão cheia de alho nas frontes, dirigiu-se para o fogão num andar vacilante. Soprou as brasas, uma onda de cinza cobriu-lhe o rosto e espalhou-se pela cozinha. Alfredo naquele instante não sentia nenhuma piedade por ela e sim um ácido ressentimento quase próximo do ódio, do horror e da repulsa. Quis gritar qualquer coisa quando ela se voltou para ele, puxando-o para o seu colo e o acariciou com aquele ardor de bêbada e de louca, com aquele fedor de álcool e de alho. Pôs-se a chorar nos braços dela, tentando escapar:
— Que tu tens, meu filho? Tu também queres ficar com teu pai? Não queres ficar comigo? Vais renegar tua mãe? Sou uma preta. Está com nojo de mim? Tens, tens nojo de mim, vais acreditar na infâmia do teu pai? Chamou-me de bêbada. Tu acreditas?
E noutro tom:
— Meu filho, te levo pra cidade. Estou com a cabeça tonta. Eu vou desenterrar minha filha uma noite dessas pra saber de que ela morreu. Meto a mão na cara de seu Alberto, se ele se atrever a me bater. O pensamento dele não é mais na Mariinha, em ti, mas na cega. Gastou foi o dinheiro do teu colégio porque aquela cegueira não tem mais cura.
[216] O filho procurou escapulir-se de seus braços e falou, timidamente:
— Vamos dormir, mamãe.
— Não tenho sono. Não vou dormir a noite inteira. Meu sono é pensar na morte de minha filha e no teu colégio. Este é que e o meu sono. Uma mãe, como eu, não tem sono. Eu acabo queimando esse teu pai dentro do mosquiteiro.
Ficou de cócoras no meio da cozinha com o filho preso em seus braços. Ela não exalava mais aqueles cheiros de São João e São Marçal. Como a mulher da rua das Palhas, como Dionízio, fedia.
— Mamãe, vamos.
— Eu te levo, sim. Teu pai levantou uma infâmia.
— Mas que infâmia, mamãe?
— Meu filho, estou doente. Estou com dor nos rins, dor na cabeça. Preciso consultar-me em Belém. Tenho que entrar para um hospital. Minha filha não existe mais. Coitada de Marialva. Os olhos dela devem estar uns buracos e não voltará boa. A irmã do seu Alberto gastara o resto do dinheiro em chapéus.
— Deixe a cozinha e vamos, mamãe.
— Vai, meu filho, eu vou ficar a noite na cozinha. Teu pai me trouxe como cozinheira e cozinheira fico. Meu lugar é na cozinha. Na cozinha tenho minha filha. Ela vem me visitar aqui. Acendo o fogão pra ela, coitadinha, se aquecer do frio do cemitério. Eu enxugo no ferro as roupas molhadas da água da cova. Meu filho, tu não é da cozinha. Tu és do salão. Mas teu pai não quer saber do teu colégio. Eu mesma vou te levar. Um dia tu serás doutor. Não renegarás tua mãe. Serás um doutor. Desafio se disserem que não serás. Tu tens cabeça para a sabedoria.
Alfredo estava sufocado e a mãe tentou afagá-lo, beijando-o. A claridade da noite derramou-se pela janela do corredor e penetrou na cozinha, cobrindo-os de uma cor cinzenta em que ficaram enrolados como dois mendigos. Ela ficou dizendo palavras desconexas. Depois caiu de costas no chão, como um cadáver. O menino gritou pelo pai que acudiu e tentou levantá-la, mastigando impropérios e pragas. Não lhe foi possível erguer aquele [217] corpo pesado e inerte. Nem ao menos trouxera a lamparina. A Minu farejava na sombra e pôs-se a latir. O velho retirou-se, resmungando:
— E eu que a tirei da lama. Uma vergonheira dessa. Que durma como lhe apeteça. Volte pra onde estava e veremos.
Alfredo ajoelhou-se, procurou abrir os olhos da mãe sem conseguir e começou a queixar-se, chorando na escuridão.
Uma hora depois, seu pai voltou com o candeeiro. A luz descobriu o rosto de d. Amélia no chão, negro e crispado, num sono de pedra. Alfredo havia desaparecido.
Ao atravessar a vala seca, ouviu a discussão no chalé e deteve-se. Sua mãe gritava e batia os pés no soalho, O pai respondia alto e furiosamente. E toda essa altercação enchia o chalé como um estrondo. Alfredo sentou-se na pontezinha.
Associou a discussão à causa da morte de Mariinha e teve um momento de quase convicção de que tudo fora causada por “aquilo”. Teria saído isso na discussão que aumentava? Aquele chalé era uma ilha de atribulações e de ódios em meio do campo adormecido sobre o rio. O menino parecia ter atingido uma inesperada compreensão amarga, aquela compreensão que ele queria ter o mais cedo possível, mas para com os livros, os problemas do dinheiro, o amor.
Avançou para o chalé. Sentia-se naquela hora como um adulto, disposto a fazer calar os pais.
Pôde apenas fechar as janelas da varanda, do quarto e da saleta para que ninguém escutasse. Seu pai estava a ponto de esbofeteá-la. Mal articulava as palavras, andando de lado a outro, o passo miúdo, e descalço, curvo, as pontas da camisa de fora, velhíssimo. Sua mãe sentara-se no banco, com a perna esticada, meneando a cabeça e falando desordenadamente. As injúrias dele e dela chicoteavam o menino. Sim, menino. Viu-se fraco, tão sem autoridade, tão criança que fugiu e já lá fora ouvia a mãe:
— Bata, bata, se se atreve!
Correu pela pontezinha como se estivesse em carne viva, a [211] chorar baixo, vergado sobre a vala. Em pouco a discussão esmorecia. Um bando de marrecos passou rapidamente e isso lhe trouxe a lembrança de Mariinha, o seu riso, o seu medo de marrecas, e um silêncio tombou no chalé fechado. Logo se ouviu uma janela abrir-se, uns soluços se espalharam sobre a noite e depois a queixa rouca:
— Minha filha, minha filha.
Alfredo não se moveu, sentindo frio, e principiou a tiritar. Ninguém o chamava. Nem Lucíola. Andreza recolhera-se cedo com aquele golpe no pé que sangrava. Eutanázio, invisível na saleta onde escrevia para Irene, ria, por certo, vingativo, daquela situação toda de que era talvez culpado. O chalé, sem Mariinha, uma casa destelhada com dois estranhos em luta. D. Amélia continuava na janela, assoando-se, murmurando qualquer coisa. Alfredo entendia que todas as mães do mundo naquela hora estavam em paz nas suas casas. Seus filhos preparavam as lições para o dia seguinte, sabendo coisas que ele talvez para sempre ignoraria.
Algo de criminoso e de proibido acontecia no chalé contra ele, contra Mariinha. E era filho daqueles dois que se injuriavam e que lançavam ameaças um contra o outro. Seu pai escarnecia e humilhava sua mãe, de maneira definitiva. Sentia nele o branco e sua cor na varanda, sob a escassa claridade, imprimia maior domínio sobre aquela empregada negra em que se transformava d. Amélia, sobre aquela escuridão e desordem que vinham do rosto de sua mãe.
Alfredo procurou novamente a margem do rio que passava devagar, mas passava. Uma montaria de tolda descia em silêncio. Andou ao longo da margem sem nenhum alívio. Ao contrário, a paz do rio o atormentava mais e coçou as cicatrizes que ameaçavam abrir de novo nas pernas. Abanando os mosquitos, desejou que o seu paludismo voltasse para que pudesse preocupar os pais e assim os reconciliasse. Os gritos de sua mãe lá dentro enxotavam o colégio, a viagem, seus projetos, a própria recordação de Mariinha.
Atravessou os algodoeiros cheios de formiga-de-fogo. Os lagartos pulavam, sapos gemiam saltando pelas moitas e um [212] bacurau voou agoureiramente da Folha Miúda que o céu cobria com a Via Láctea.
Alcançou os fundos da casa grande do coronel Bernardo. Perto, cresciam carrapateiros. Desceu pela beirada e caminhou debaixo do casarão entre os esteios altos, sob o trapiche, até subir pela cozinha de onde só ratos fugiam, saltando sobre o forno em ruínas, as velhas mesas sem pernas, o montão de tijolos encostados a uma bojuda talha sem tampa.
Dirigiu-se à sala de jantar, suas numerosas janelas sobre o rio não tinham mais persianas nem trincos, arriadas ou cobertas pelas trepadeiras brabas. Ali, muitas vezes, o pai jantara, ao lado de fazendeiros e doutores. Criadas trazendo terrinas, perus assados, leitões de forno, compoteiras com doces em caldas, talhadas de melancia e então os vinhos? Um enorme candeeiro pendia do teto, aceso, quando os bicos de carbureto não queriam funcionar.
No parapeito do corredor, agora sob a erva de São Caetano, a mãe do coronel Bernardo, d. Leopoldina, mandava colocar as latas de coalhada. As portas dos quartos e das salas da frente eram de funda treva em que os vermes da ruína trabalhavam. Em todo o casarão defunto com o fedor de lixo, ratos e morcegos crescia a população dos fantasmas. No mesmo corredor, viu, certa manhã, o cadáver de um homem, vindo do sítio. Teria sido o pai de Andreza? No velório, velhos de rosto barrento jogavam baralho sobre uma esteira e cuspiam ao pé do morto.
Alfredo saiu com medo e apressado para ganhar a margem. Seria assim em Marinatambalo? Sabia lá o que podia acontecer num casarão daquele. Mas quantos meninos, que agora estudavam ou eram doutores, viveram ali? Teriam ouvido discussões dos pais?
Olhou o rio que se fechava na curva como se lhe dissesse: Por mim não sairás de Cachoeira.
Abriu devagarinho a porta do chalé. Na mesa da saleta, um catálogo aberto à luz do candeeiro. Os óculos do pai sobre a pasta de papéis. Um sinal a lápis vermelho marcava a página do relógio carrilhão. Talvez custasse o preço de dois anos de colégio.
[213] Demorou-se olhando o relógio que lhe lembrava belas estantes de livros, portas de igrejas, torres, salas de estudos. Veneza vista no livro de Blasco Ibañez. Seu pai talvez o estivesse admirando desejando antes da discussão. O relógio espatifara-se no coração do pai, enquanto, esquecido, o despertador marcava aquelas horas desgraçadas, fiel àquele desespero como velho empregado da família.
Encontrou o pai. na varanda. A luz do candeeiro caía-lhe sobre o rosto esbatido. Estirado ao longo da rede, que embalava, a mão inerte sobre a testa, seu pai estava mergulhado em completa calma. Alfredo, então, quis ajoelhar-se ao pé da rede ou inclinar-se para pedir-lhe a bênção. Mas o velho não deu com a presença do o, tão recolhido estava em seu silêncio. Pensaria no relógio carrilhão? Voltaria ao catálogo? Ah, sabia, pensava na operação de Marialva, deveria ser naquela noite. Esperava notícias. Para isto vendera o gado, vendera a Merência.
Idealizou a chegada de uma lancha com a boa notícia e a encomenda mandada por amigo: o relógio. Onde colocaria o carrilhão?
Passou a refletir: Com certeza pensa em mandar mamãe embora. E a mim também. Ele nos odeia. Ela não é sua mulher nem sou seu filho legítimo. E viu a mãe cuspindo naquela senhora branca, lutando pelo pai. Não tinha direito de ser um filho dele como os três filhos de Muaná? A ceguinha, lá no hospital, tinha seus olhos nas mãos do sábio...
Correu para a cozinha onde encontrou sua mãe, no escuro, pilando qualquer coisa.
— Que está socando no pilão, mamãe?
— Socando alho pra minha cabeça. Estou que não posso de dor de cabeça, meu filho. Sabe que a estas horas a filha dele já deve estar operada? E a minha filha, a minha, morta. Morta.
A voz dela afinava-se com um acento de lástima e de incoerência que espantava o menino. O cheiro do alho espalhou-se. Sua mãe, na sombra, pilava sem forças, boca angulosa, cabeça oscilante, como filha-de-santo, atuada.
[214] Alfredo entrou na despensa e tropeçou numa porção de garrafas espalhadas no soalho, as garrafas atiradas pelo pai, derramadas em presença dele, cheias de cachaça. Ali estavam, algumas quebradas. E o tio? Por que tardava? Temeu que o tio Sebastião viesse defender a irmã, atirar-se contra major Alberto.
Abandonando a mão de pilão, d. Amélia veio em busca dele e Alfredo sentiu-lhe o hálito tão forte como o hálito dos bêbados que se habituara a observar na taberna de Saiu ou no mercado. Essa semelhança entre a sua mãe e aqueles bêbados como o finado Dionízio, deixou-o estupefato e o abateu, a ponto de querer repelir os agrados dela. Confirmava-se a acusação do pai e a cena do banheiro. Era a bebida. Era. Sua mãe bebia. Sua mãe se igualava aos bêbados que vinham do aterro tropeçando, aos gritos, medonhos, caindo nas valas. Não esquecerá agora o dia em que foi à rua das Palhas e encontrou lá uma mulher embriagada gritando à porta de uma casa em ruínas, cuspindo e batendo a cabeça na parede, depois caindo no chão em prantos. Alguém lhe disse:
— Menino, não olhe isso. Tire a vista disso.
Agora olhava a mãe que voltara a pilar no pilão, com os movimentos cada vez mais parecidos com os da mulher da rua das Palhas. Por que ela não acendia a luz? Por que não procurava dormir? Aquela condição de sua mãe ofendia-o, ia ao fundo do seu desesperado orgulho, de sua vaidade de menino perante os moleques de pé descalço, sobretudo era como um escárnio às suas ambições do colégio.
Sua mãe continuando a pilar o alho, exclamou:
— Meu filho, tu vais, sim, pro colégio. Estamos sem ninguém. Seu pai já uma vez me deu no rosto. Agora avançou para mim. Se me desse, eu respondia com a faca americana. Ele que não se atreva a levantar a mão contra mim. Seu pai levantou uma infâmia. Meu filho, nós vamos embora. Uma vez me mostraste a fotografia do colégio onde tu queres estudar. Pois vamos. Minha filha morreu. Quem sabe se não morreu envenenada? Esse veneno de rato que teu pai anda espalhando pela casa talvez fosse a causa...
[215] Curvada sobre o pilão na cozinha, d. Amélia principiou a chorar chamando pela filha. Seu hálito enchia o chalé, na impressão de Alfredo.
— Pois eu vou fazer tudo para que você estude, para que saias daqui. Tu queres saber. Nada mais bonito que a sabedoria de uma pessoa. E vais para que não morras também. Minha filha morreu talvez por descuido meu. Fui eu a culpada. Eu vi minha filha no soalho. Não me incomodei logo. Uma vez ela disse que queria ir também estudar neste colégio que tu falas. Tu falaste com ela no colégio?
Sem esperar que ele respondesse, ela bradou:
— Se o teu pai se atreve, eu avançava para ele com a faca. Ele levantou uma infâmia. O pensamento dele está na cega. Na operação. A irmã dele vai é furtar o dinheiro. Ele mandou pra ela o dinheiro. Vais ver as contas. As contas.
De repente, despregou os cabelos, abandonou o pilão, passou a mão cheia de alho nas frontes, dirigiu-se para o fogão num andar vacilante. Soprou as brasas, uma onda de cinza cobriu-lhe o rosto e espalhou-se pela cozinha. Alfredo naquele instante não sentia nenhuma piedade por ela e sim um ácido ressentimento quase próximo do ódio, do horror e da repulsa. Quis gritar qualquer coisa quando ela se voltou para ele, puxando-o para o seu colo e o acariciou com aquele ardor de bêbada e de louca, com aquele fedor de álcool e de alho. Pôs-se a chorar nos braços dela, tentando escapar:
— Que tu tens, meu filho? Tu também queres ficar com teu pai? Não queres ficar comigo? Vais renegar tua mãe? Sou uma preta. Está com nojo de mim? Tens, tens nojo de mim, vais acreditar na infâmia do teu pai? Chamou-me de bêbada. Tu acreditas?
E noutro tom:
— Meu filho, te levo pra cidade. Estou com a cabeça tonta. Eu vou desenterrar minha filha uma noite dessas pra saber de que ela morreu. Meto a mão na cara de seu Alberto, se ele se atrever a me bater. O pensamento dele não é mais na Mariinha, em ti, mas na cega. Gastou foi o dinheiro do teu colégio porque aquela cegueira não tem mais cura.
[216] O filho procurou escapulir-se de seus braços e falou, timidamente:
— Vamos dormir, mamãe.
— Não tenho sono. Não vou dormir a noite inteira. Meu sono é pensar na morte de minha filha e no teu colégio. Este é que e o meu sono. Uma mãe, como eu, não tem sono. Eu acabo queimando esse teu pai dentro do mosquiteiro.
Ficou de cócoras no meio da cozinha com o filho preso em seus braços. Ela não exalava mais aqueles cheiros de São João e São Marçal. Como a mulher da rua das Palhas, como Dionízio, fedia.
— Mamãe, vamos.
— Eu te levo, sim. Teu pai levantou uma infâmia.
— Mas que infâmia, mamãe?
— Meu filho, estou doente. Estou com dor nos rins, dor na cabeça. Preciso consultar-me em Belém. Tenho que entrar para um hospital. Minha filha não existe mais. Coitada de Marialva. Os olhos dela devem estar uns buracos e não voltará boa. A irmã do seu Alberto gastara o resto do dinheiro em chapéus.
— Deixe a cozinha e vamos, mamãe.
— Vai, meu filho, eu vou ficar a noite na cozinha. Teu pai me trouxe como cozinheira e cozinheira fico. Meu lugar é na cozinha. Na cozinha tenho minha filha. Ela vem me visitar aqui. Acendo o fogão pra ela, coitadinha, se aquecer do frio do cemitério. Eu enxugo no ferro as roupas molhadas da água da cova. Meu filho, tu não é da cozinha. Tu és do salão. Mas teu pai não quer saber do teu colégio. Eu mesma vou te levar. Um dia tu serás doutor. Não renegarás tua mãe. Serás um doutor. Desafio se disserem que não serás. Tu tens cabeça para a sabedoria.
Alfredo estava sufocado e a mãe tentou afagá-lo, beijando-o. A claridade da noite derramou-se pela janela do corredor e penetrou na cozinha, cobrindo-os de uma cor cinzenta em que ficaram enrolados como dois mendigos. Ela ficou dizendo palavras desconexas. Depois caiu de costas no chão, como um cadáver. O menino gritou pelo pai que acudiu e tentou levantá-la, mastigando impropérios e pragas. Não lhe foi possível erguer aquele [217] corpo pesado e inerte. Nem ao menos trouxera a lamparina. A Minu farejava na sombra e pôs-se a latir. O velho retirou-se, resmungando:
— E eu que a tirei da lama. Uma vergonheira dessa. Que durma como lhe apeteça. Volte pra onde estava e veremos.
Alfredo ajoelhou-se, procurou abrir os olhos da mãe sem conseguir e começou a queixar-se, chorando na escuridão.
Uma hora depois, seu pai voltou com o candeeiro. A luz descobriu o rosto de d. Amélia no chão, negro e crispado, num sono de pedra. Alfredo havia desaparecido.
[218]
7
Já distante, voltou-se para ver uma ou outra luz dos fundos de Cachoeira e estrelas pálidas piscavam timidamente sobre os campos desertos.
Onde estava, para onde caminhava, não sabia. No entanto, caminhava sempre.
Atravessava uma zona de terroadas que lhe doíam nos pés descalços. Os juqueris espinhentos cortavam-lhe os dedos. Principiou a coçar-se: eram os mucuins subindo-lhe pelo corpo. Procurou um caminho de gente e de gado naquela extensão de capins úmidos e aterroados não acertava encontrá-lo. Sabia que havia muitos deles, entrecruzando-se por ali: o caminho do cemitério antigo onde estava sepultada a mãe de Lucíola, o que findava à frente da casa de seu Cristóvão; o caminho que renteava a Estação de Monta; o caminho direito de onde o sol nascia e vinha contornar o cata-vento; e seguia obliquamente em direção das fazendas, do cemitério novo, para Marinatambalo.
Poucas pessoas na vila pronunciavam o nome direito. Alfredo parou pensando nesse nome estranho, nessa fazenda estranha. Seu pai consultara o Tupi na Geografia Nacional e não encontrara o nome. Achou-o num volume sobre a história do rio Amazonas. Marinatambalo. Era um antigo nome dado à ilha de Marajó pelos espanhóis ou holandeses — sabia-se lá — quando andavam pela Amazônia e aproveitado pelo dr. Meneses para batizar a sua fazenda. O fazendeiro, caçoava Major, era membro do Instituto Histórico do Pará, tinha as suas fumaças, gostava dos nomes cheios. Em sua fazenda, que ele chamava o Reino de Marinatambalo, [219] dava bailes a rigor com vestidos mandados vir de Paris. Tentou fazer uma festa de carnaval à moda antiga, com os cavaleiros cheios de pó de arroz no cabelo e as damas de anquilhas e saia balão. O Reino de Marinatambalo levantou fama de luxo, de esbanjamento e de crueldade também. Dr. Meneses tinha um irmão Edgar, o administrador da fazenda, que amarrava vaqueiros nos troncos, marcava-os com a sua marca, surrava-os com as cordas com que amansava os poldros, matava caçadores e ladrões de seu pomar, tudo em meio dos pavilhões de caça, jardim zoológico, moinho de vento, fábrica de doces, carruagem, gasômetro, naturalistas etc. Lucíola foi que falou a Alfredo das histórias de Marinatambalo. Seu pai repetia apenas: um maluco, um malucão.
Alfredo sempre pensou ver o que restava de Marinatambalo. Clara lhe falara, um dia, dos bacuris e das mangas, das laranjas e dos murucis, dos cacaus e dos ananases que trazia de Marinatambalo. E depois Andreza lhe falou que aquela fazenda era morada de lobisomem.
— Foi por causa dela que meu pai morreu. Meu avô também e meu irmão sumiu.
Que rumo tinha aquela fazenda? Perguntou Alfredo. Não sabia orientar-se. Não sabia nunca distinguir os quatro pontos cardeais. Marinatambalo estava a Leste, Oeste, Norte, Sul? Era para as bandas do Teso. Situava-se melhor numa área quente e agitada, a dos sentimentos do menino, que voltara a caminhar.
A noite apagava todos os caminhos e o menino avançava pelo aterroado com dificuldades, saltando aqui e ali, por causa dos espinhos e com medo das cobras. Essa preocupação não era à-toa porque sentiu no seu rastro qualquer coisa como uma cobra que o perseguisse. Pôs-se a correr apanhando pedaços de sacaí que atirava para trás. Deu muitas voltas no meio do campo, acreditando que assim enganaria ou cansaria o agressor desconhecido.
Descobriu aliviado um caminho liso que se desnivelava pelo campo. Correu-correu, até convencer-se de que nada o perseguia. Parou para respirar profundamente e isto o reanimou.
Os vaga-lumes saltavam. Aos poucos, a noite se tornou clara e Alfredo, andando vagarosamente encontrou à beira do [220] caminho uma pixuneira em flor.
Tinha a copa redonda e exalava um aroma que nunca havia aspirado nas pixuneiras. Em breve estaria carregada de frutinhas roxas. Os lábios de Mariinha estavam roxos no caixão como se ela tivesse comido pixuna.
Sem tocar em uma só flor da pixuneira, o menino julgou tão súbita e misteriosa aquela floração que acreditou nalguma menina a enfeitar a árvore, nalgum gênio dentro daquele tronco e animando aqueles galhos, exalando bondade e consolo através daquelas flores que o orvalho fazia desabrochar tão suavemente. Quis deitar-se ao pé da pixuneira e adormecer ali até o dia raiar. Lembrou-se, porém, da cobra, dos bichos, das aranhas venenosas, das visagens, enfim. E afastou-se da árvore, triste-triste, como quem se despede do sono onde haveria de sonhar os mais belos sonhos.
O caminho o levou até a casa do dr. Casemiro Lustosa, de arame farpado. Não hesitou em vará-la e continuou a caminhar. Por que era do dr. Lustosa tamanha cerca, tamanhos campos? Por que dele aquelas árvores, os bosques, as pastagens? Não poderia ser tudo aquilo do seu pai? Mas isto foi breve porque o desespero lhe voltou com violência: que seria dele sem sua mãe e o chalé do seu pai? Dentro daquela cerca estaria Merência, o gado do chalé e Marialva voltaria “vendo”?
O chão era mais úmido, o capim molhado como se tivesse chovido e o orvalho banhou-lhe o coração. Estava só naqueles campos e desejou ser rapaz crescido, forte, para continuar a correr, galopando em cavalos bravos, matando jacaré como seu tio. Sua mãe havia morrido? Não queria ver o enterro saindo do chalé. Sua fuga faria, sem dúvida, o pai apressar-lhe a partida e assim abandonaria o chalé para sempre. Não voltaria para lá. Estaria fugindo com as suas pernas ou alguém invisível o levava?
Naquela solidão, Clara poderia surgir mesmo de verdade, transformada em fumaça maléfica e indomável como um redemoinho. Isto o fez estremecer e logo outros seres mágicos do campo, a matinta, a mãe do fogo e os espectros do boi rosilho, do cavalo branco e da ilha, que aparecia e sumia, lhe brotavam do pensamento.
[221] Podiam conduzi-lo, para onde? Existiria de fato o Reino de Marinatambalo?
Talvez fosse mentira das gentes de Cachoeira que viviam sempre pregando peças aos meninos. Aumentou-lhe o desgosto de continuar a ser menino ainda. Queria libertar-se daquela tirania de ilusões e mentiras, de medo e de faz-de-conta. E por isso sentiu que crescera muito naquela noite, tornava-se adulto pelas decepções e pelo orgulho ferido.
Como, no entanto, libertar-se do carocinho que deixara no chalé? Como suportar aquele espetáculo, amanhã, com a mãe morta na varanda e o povo comentando que ela morrera de tanto beber? E por isso tinha de caminhar, embora soubesse que deveria estar ao lado de sua mãe, à frente do cadáver, na varanda, dono dela.
Sua dor vencia o medo e as suposições funestas. Corria, arquejante, as exclamações da mãe ecoando em seu cérebro, como gritos dentro da mata, com aquele rosto à sua frente, crescendo no campo, rígido e negro. Estava morta. Ela não lhe diria mais: meu filho. Não cantaria mais nas tardes quentes aquelas lentas modinhas que pareciam vir do começo do mundo, inventadas pela primeira mãe que apareceu na terra. Oh, queria assim mesmo a sua mãe doente, bêbada, morta, queria-a assim mesmo.
Alfredo deteve-se, as mãos no rosto, curvo como um velhinho.
— Mamãe morreu, mamãe morreu.
Essa queixa entre soluços foi proferida como se o mundo inteiro a escutasse, tal era a solidão o sofrimento do menino.
Onde estava, para onde caminhava, não sabia. No entanto, caminhava sempre.
Atravessava uma zona de terroadas que lhe doíam nos pés descalços. Os juqueris espinhentos cortavam-lhe os dedos. Principiou a coçar-se: eram os mucuins subindo-lhe pelo corpo. Procurou um caminho de gente e de gado naquela extensão de capins úmidos e aterroados não acertava encontrá-lo. Sabia que havia muitos deles, entrecruzando-se por ali: o caminho do cemitério antigo onde estava sepultada a mãe de Lucíola, o que findava à frente da casa de seu Cristóvão; o caminho que renteava a Estação de Monta; o caminho direito de onde o sol nascia e vinha contornar o cata-vento; e seguia obliquamente em direção das fazendas, do cemitério novo, para Marinatambalo.
Poucas pessoas na vila pronunciavam o nome direito. Alfredo parou pensando nesse nome estranho, nessa fazenda estranha. Seu pai consultara o Tupi na Geografia Nacional e não encontrara o nome. Achou-o num volume sobre a história do rio Amazonas. Marinatambalo. Era um antigo nome dado à ilha de Marajó pelos espanhóis ou holandeses — sabia-se lá — quando andavam pela Amazônia e aproveitado pelo dr. Meneses para batizar a sua fazenda. O fazendeiro, caçoava Major, era membro do Instituto Histórico do Pará, tinha as suas fumaças, gostava dos nomes cheios. Em sua fazenda, que ele chamava o Reino de Marinatambalo, [219] dava bailes a rigor com vestidos mandados vir de Paris. Tentou fazer uma festa de carnaval à moda antiga, com os cavaleiros cheios de pó de arroz no cabelo e as damas de anquilhas e saia balão. O Reino de Marinatambalo levantou fama de luxo, de esbanjamento e de crueldade também. Dr. Meneses tinha um irmão Edgar, o administrador da fazenda, que amarrava vaqueiros nos troncos, marcava-os com a sua marca, surrava-os com as cordas com que amansava os poldros, matava caçadores e ladrões de seu pomar, tudo em meio dos pavilhões de caça, jardim zoológico, moinho de vento, fábrica de doces, carruagem, gasômetro, naturalistas etc. Lucíola foi que falou a Alfredo das histórias de Marinatambalo. Seu pai repetia apenas: um maluco, um malucão.
Alfredo sempre pensou ver o que restava de Marinatambalo. Clara lhe falara, um dia, dos bacuris e das mangas, das laranjas e dos murucis, dos cacaus e dos ananases que trazia de Marinatambalo. E depois Andreza lhe falou que aquela fazenda era morada de lobisomem.
— Foi por causa dela que meu pai morreu. Meu avô também e meu irmão sumiu.
Que rumo tinha aquela fazenda? Perguntou Alfredo. Não sabia orientar-se. Não sabia nunca distinguir os quatro pontos cardeais. Marinatambalo estava a Leste, Oeste, Norte, Sul? Era para as bandas do Teso. Situava-se melhor numa área quente e agitada, a dos sentimentos do menino, que voltara a caminhar.
A noite apagava todos os caminhos e o menino avançava pelo aterroado com dificuldades, saltando aqui e ali, por causa dos espinhos e com medo das cobras. Essa preocupação não era à-toa porque sentiu no seu rastro qualquer coisa como uma cobra que o perseguisse. Pôs-se a correr apanhando pedaços de sacaí que atirava para trás. Deu muitas voltas no meio do campo, acreditando que assim enganaria ou cansaria o agressor desconhecido.
Descobriu aliviado um caminho liso que se desnivelava pelo campo. Correu-correu, até convencer-se de que nada o perseguia. Parou para respirar profundamente e isto o reanimou.
Os vaga-lumes saltavam. Aos poucos, a noite se tornou clara e Alfredo, andando vagarosamente encontrou à beira do [220] caminho uma pixuneira em flor.
Tinha a copa redonda e exalava um aroma que nunca havia aspirado nas pixuneiras. Em breve estaria carregada de frutinhas roxas. Os lábios de Mariinha estavam roxos no caixão como se ela tivesse comido pixuna.
Sem tocar em uma só flor da pixuneira, o menino julgou tão súbita e misteriosa aquela floração que acreditou nalguma menina a enfeitar a árvore, nalgum gênio dentro daquele tronco e animando aqueles galhos, exalando bondade e consolo através daquelas flores que o orvalho fazia desabrochar tão suavemente. Quis deitar-se ao pé da pixuneira e adormecer ali até o dia raiar. Lembrou-se, porém, da cobra, dos bichos, das aranhas venenosas, das visagens, enfim. E afastou-se da árvore, triste-triste, como quem se despede do sono onde haveria de sonhar os mais belos sonhos.
O caminho o levou até a casa do dr. Casemiro Lustosa, de arame farpado. Não hesitou em vará-la e continuou a caminhar. Por que era do dr. Lustosa tamanha cerca, tamanhos campos? Por que dele aquelas árvores, os bosques, as pastagens? Não poderia ser tudo aquilo do seu pai? Mas isto foi breve porque o desespero lhe voltou com violência: que seria dele sem sua mãe e o chalé do seu pai? Dentro daquela cerca estaria Merência, o gado do chalé e Marialva voltaria “vendo”?
O chão era mais úmido, o capim molhado como se tivesse chovido e o orvalho banhou-lhe o coração. Estava só naqueles campos e desejou ser rapaz crescido, forte, para continuar a correr, galopando em cavalos bravos, matando jacaré como seu tio. Sua mãe havia morrido? Não queria ver o enterro saindo do chalé. Sua fuga faria, sem dúvida, o pai apressar-lhe a partida e assim abandonaria o chalé para sempre. Não voltaria para lá. Estaria fugindo com as suas pernas ou alguém invisível o levava?
Naquela solidão, Clara poderia surgir mesmo de verdade, transformada em fumaça maléfica e indomável como um redemoinho. Isto o fez estremecer e logo outros seres mágicos do campo, a matinta, a mãe do fogo e os espectros do boi rosilho, do cavalo branco e da ilha, que aparecia e sumia, lhe brotavam do pensamento.
[221] Podiam conduzi-lo, para onde? Existiria de fato o Reino de Marinatambalo?
Talvez fosse mentira das gentes de Cachoeira que viviam sempre pregando peças aos meninos. Aumentou-lhe o desgosto de continuar a ser menino ainda. Queria libertar-se daquela tirania de ilusões e mentiras, de medo e de faz-de-conta. E por isso sentiu que crescera muito naquela noite, tornava-se adulto pelas decepções e pelo orgulho ferido.
Como, no entanto, libertar-se do carocinho que deixara no chalé? Como suportar aquele espetáculo, amanhã, com a mãe morta na varanda e o povo comentando que ela morrera de tanto beber? E por isso tinha de caminhar, embora soubesse que deveria estar ao lado de sua mãe, à frente do cadáver, na varanda, dono dela.
Sua dor vencia o medo e as suposições funestas. Corria, arquejante, as exclamações da mãe ecoando em seu cérebro, como gritos dentro da mata, com aquele rosto à sua frente, crescendo no campo, rígido e negro. Estava morta. Ela não lhe diria mais: meu filho. Não cantaria mais nas tardes quentes aquelas lentas modinhas que pareciam vir do começo do mundo, inventadas pela primeira mãe que apareceu na terra. Oh, queria assim mesmo a sua mãe doente, bêbada, morta, queria-a assim mesmo.
Alfredo deteve-se, as mãos no rosto, curvo como um velhinho.
— Mamãe morreu, mamãe morreu.
Essa queixa entre soluços foi proferida como se o mundo inteiro a escutasse, tal era a solidão o sofrimento do menino.
II
Sentou-se no chão molhado e o frio percorreu-lhe o corpo exausto. Permaneceu durante algum tempo com as mãos no rosto. Quando as tirou, viu a noite diferente, os olhos molhados e ávidos para aquela espuma, luminosa e turva ao mesmo tempo, que se espalhava no céu. Ergueu-se para enxotar a suspeita do encantamento, de que sempre Lucíola lhe falava, ter inteira consciência de que estava dono de si, com os pés na terra. Não, não era bruxaria. Seu rosto imóvel e atento para o Oriente como que [222] rondava a cidade, a verdadeira infância de onde os meninos pudessem saltar para uma vicia que ainda não havia. E sob o orvalho aos poucos, como uma esponja embebida de sangue, a claridade cresceu. As árvores adquiriam vida animal, faces, cabeleiras, pelos e braços, mexiam-se e espreguiçavam-se, saindo de um sono de séculos e de uma misteriosa existência sem memória. O capim principiou a brilhar. Perto, um sapo grande, com uns olhos acesos, fitava-o. Os vaga-lumes empalideciam e de repente um grito de pássaro rasgou asperamente a solidão. Voltou-se para todos os lados num sobressalto e foi o tempo em que surgiu do nascente xixi gotejante arco em brasa. Com a sensação de susto e de deslumbramento, a que se misturavam vagas impressões da primeira infância e a reminiscência de alguns sonhos e pesadelos, Alfredo sentou-se novamente no caminho, com os olhos na lua.
A lua lhe apareceu com a cabeça que o fio do horizonte tivesse cortado de alguma sereia e se erguia na bandeja de chumbo de uma grande nuvem. Tornou-se uma lua disforme, primitiva, feroz, bruxa escorrendo sangue e cólera, devoradora de crianças. Sombras esguias e colunas de orvalho moviam-se nos campos claros. Abriam-se furnas na mata, onde, como uma onça, a noite se recolhia.
Era preciso atravessá-la para ganhar as campinas do outro lado e começou a correr, gritando para espantar o medo e apressar a marcha, de vez em quando olhava a lua que o perseguia com a sua raiva de degolada.
Os gritos de Alfredo derramavam-se pelos bosques, ecoando e assustando os pássaros que gritavam em pânico ou batiam abafadamente as asas pelas ramagens altas.
Desembocou na campina e tomou fôlego. Mas isto num instante, porque o menino começou a tremer de maior medo e espanto, ao ouvir um grito ecoando nos longes.
Um novo grito mais próximo o fez rodear o bosque e tomar um caminho que serpenteava ao luar, numa direção desconhecida. Outros gritos sucederam-se e percebeu que chamavam pelo eu nome. Parou, a escutar, a mão no peito, arquejando.
Era um “Alfredo! Alfredo!”, como um apelo de socorro. [223] Seria sua mãe? Viva ou morta? Tentou rezar, prometer não sabia o que, tornar-se humilde, boníssimo para os moleques da vizinhança, agarrar-se aos pés da Virgem, arrastar-se nos tijolos da igreja, decorando o catecismo inteiro.
Culpado e perdido, pensou voltar para a casa, certo, porem, de que não acertaria mais o caminho.
O luar ofuscava-o, oprimia-o. Os capões do mato erguiam-se com as suas cavernas, cercando-o. Andou instintivamente para diante, numa vaga idéia de que estavam próximos os campos largos. Ou Marinatambalo?
Os gritos desapareceram. Um sapo — o mesmo que vira antes de olhar aceso? — pulou na touça adiante, inchando de escuridão e magia. Para não provocá-lo, Alfredo deteve-se e olhou para trás. Quis gritar, não pôde, as mãos tremendo sobre a boca. Surgindo do bosque, um vulto de branco corria no seu rumo, sob o luar, em que se evaporava, para emergir adiante numa levitação. No meio da campina, gritou.
Alfredo não reconheceu a voz e fugiu, rompendo um cipoal, ganhando novo descampado, com o nome de Nossa Senhora na boca, pedaços de oração contra os perigos, nome de sua mãe, correndo entre muitos troncos partidos no meio dos quais se erguia, negro, negro do fogo que o queimara, um tucumãzeiro morto.
Não pôde mais, as pernas dobravam. Um frio intenso. Os pés como chagas. Tombou no caminho. O tucumãzeiro cresceu-lhe à frente e principiou a rodar, enorme de encontro à lua, esqueleto de carvão, com seus espinhos em fogo. O sapo, como se fosse causador de tudo, fugia no silêncio.
Depois, curvada sobre o menino, a mão sobre o seu rosto frio estava Lucíola.
Com a cabeça do menino no colo, Lucíola inclinou-se sobre ele para cobrir-lhe o peito com os seus cabelos soltos. Alisando-lhe o rosto que lhe pareceu angélico ao luar, pôs-se a refletir numa melhor maneira de retirá-lo dali. Carregá-lo, não podia. Alfredo crescera, pesava muito para as suas forças. Também, com quase 11 anos!
[224] A esta reflexão — uma exclamação que ficou em si mesma, doendo-lhe — seguiu-se um muxoxo de censura, ao tempo que depressa andava e ao próprio Alfredo que, tomando consciência de seu crescimento, se mostrava cada vez mais arredio e mais mal-agradecido.
Reconheceu, no muro da mata defronte, o bosque de Marinatambalo, com os bacurizeiros altos e a sumaumeira à entrada. Ali perto, havia um pavilhão, o pavilhão de caça. Levá-lo até lá não seria muito difícil. Ergueu o rosto de Alfredo para a lua que ia alta e beijou-o, com os olhos em lágrimas.
— Que menino este! Parece que só nesta noite cresceu um palmo. Foi o que padeceu, coitadinho. Amanhã, de que tamanho será... Grande. Como os outros.
Um sentimento de lástima, vergonha e mesmo de revolta envenenou-lhe aquele impulso de ternura. Amanhã será também como os outros. Não haverá mais nada de extraordinário nele depois que atingir os 16 anos. Perderá essas feições, essa inocência, esse sono, homem como os demais.
Julgou-se desumana ao estar refletindo naquelas coisas quando o menino precisava de amparo. Não tinha culpa de haver nascido homem.
Por outro lado, sentia-se alegre, quase feliz, porque se achava naquela hora, na completa posse do menino que tanto quis que fosse seu, a bem dizer criado por ela — neste ponto exagerava — é que d. Amélia tudo fizera para arrebatar-lhe das mãos. Por isto, já não o via tão crescido e sim feito aquela criança a quem ninara com tanto dengo e tanta presunção maternal. Esse passado distanciara-se muito, apesar dos curtos anos que separaram Alfredo das papinhas de Maisena, do cueiro bordado, do trem de carretéis, das senhas do bonde trazidos de Belém, das denguices choronas dele agarrado às saias dela e de d. Rosália. E agora estava ele em seu colo, fugindo daquele chalé.
Da janela de casa ouvira o barulho, ao qual acompanhou com crescente satisfação vingativa, torcendo para que tudo aquilo tivesse um fim vantajoso para ela, dando-lhe oportunidade de apossar-se de Alfredo. Desejou com impaciência que major Alberto fosse [225] homem capaz de reduzir ao silêncio aquela negra. Logo, porém, rir-se nervosamente dele, sabendo-o incapaz de um gesto definitivo contra aquela “rapariga”, fosse para mandá-la embora, tapando-lhe a boca, ou apertar-lhe o pescoço até...
Morta Amélia, preso o Major, o filho seria dela. Viu Alfredo entrar e sair do chalé. Nem tempo teve para apanhar um agasalho, tirar do fundo da mala grande a velha mantilha da mãe...
Quis envolver-lhe o tronco com os cabelos, desistiu para ver se o acordava. Era preciso fazê-lo andar.
Seu coração batia agoniadamente. Se d. Amélia aparecesse? Quem sabe se Alfredo não veio atraído por uma alma, um encanto, uma força contra a qual ela não teria poderes para lutar? Mas era preciso dominar o medo e tentou acordá-lo.
Estava sem forças. Voltou, por isto, a censurar-se a si mesma, com azedume — sem forças para carregá-lo. Seria completo o seu triunfo se pudesse levá-lo nos braços, repousá-lo no pavilhão, deixá-lo dormir as horas que entendesse, longe do mundo.
Murmurou um “meu filho”, timidamente e lutou contra a convicção, que logo a assaltou, de que se ele acordasse, daria um grito de susto, repelindo-a. Oh, meu Deus, não sei o que fazer, queixou-se ela. Não sei o que fazer. Não posso deixá-lo aqui nem ficar com ele neste sereno. Ele pode resfriar-se, pode apanhar uma tosse de mau caráter, uma pneumonia, Deus do céu. Também não posso carregá-lo. Como me sinto cansada, por cima de tudo isto. Eu podia ter ainda forças para levá-lo. Quando mais precisa de mim é que lhe falto. São as consumições de casa, aquelas doenças, os anos de espera, os irmãos, a própria d. Amélia... Também tenho medo de acordá-lo, pode assustar-se e...
Ele reagiria talvez com violência, continuou mentalmente, com uma violência como nunca fizera antes. Acreditou, no entanto, que o menino viera do chalé tão revoltado e desvalido que receberia bem ou pelo menos sem resistência aquela surpresa.
— Vamos, meu filho, se levante.
Com o auxílio dela, Alfredo ergueu-se como um sonâmbulo. Ela o amparou e o conduziu, como quem guiava um hipnotizado, vagarosamente, cheia de medo e precaução extrema até o velho pavilhão no meio do bosque.
[226] Principiou a amanhecer, Alfredo continuava a dormir no colo dela. Não havia ocupado o pavilhão porque o encontraram com os restos do teto vergados pelas trepadeiras selvagens, a madeira das paredes esfarelando-se do caruncho e cupim. Do soalho de madeira branca e acapu restavam algumas tábuas a um canto, onde poderiam morar cobras e aranhas venenosas. Os dois ficaram fora, num acamado de folhas secas, junto a uma velha laje rachada.
Lucíola lembrava-se do pavilhão azul e branco, coberto de telha francesa, de outrora. Na parede do fundo, via-se a estampa de Diana, a caçadora. Suspensos, pelo teto, peles, cabeças de onça, armas, troféus de caça espalhados também pelo chão.
Um bando de periquitos invadiu ruidosamente o bosque, avisando a claridade do amanhecer. O sereno cobria os horizontes, ensopando as folhagens e o chão. Lucíola repousou a cabeça do menino num travesseiro de folhas e suspirou, cansada e preocupada. Não dormira a noite inteira, surpresa ainda com aquela circunstancia feliz e ao mesmo tempo inquietante. Descansaria andando entre as árvores, no ar úmido do amanhecer. Acariciou o menino no seu longo sono, sorrindo para ele, como se o tivesse dado à luz naquela hora. Passou a examinar as imediações do pavilhão. Sacudiu a cabeça e murmurou com lástima que era também de si mesma:
— Quem te viu e quem te vê... Quem viu o que foi isto, meu
Um cheiro de frutas podres, no ar adocicado, indicava a entrada do pomar. Restavam naquele abandono laranjeiras, goiabeiras, abacateiros e biribá. No meio, jaziam ainda os velhos troncos onde as visitantes gravavam lembranças. Onde estariam as inscrições feitas no bosque? Que fim levaram aquelas palavras que ela escrevera num velho tronco, na manhã da caça? Nem mais um vestígio, nem nunca ninguém saberia o significado delas. Apenas seu coração as soube guardar.
O bosque alargava-se com as samaumeiras monumentais e a plantação das seringueiras já altas. Cerravam-se os caminhos e os cipós densos pendiam das árvores restituídas ao matagal. Lucíola parou sob a recordação mais viva de Marinatambalo. O bosque [227] era como um parque de cidade. Latadas de jasmineiros ao centro envolviam a área onde ficavam os balanços e o. coreto. Junto a uma latada, dr. Meneses mandara colocar uma estatueta de mar-more que simbolizava a Prosperidade, dizia ele. No pavilhão embandeirado, reluziam armas e todos os apetrechos para a caça. E por tudo isto, voando e gritando, uma grande arara azul que pousava nos ombros do fazendeiro, na cabeça da estátua, como uma ave propiciatória.
Em setembro de 1910, recordou Lucíola, dr. Meneses resolvera festejar, na fazenda, o regresso das duas filhas que estudavam na Inglaterra. Para pasmo de toda Cachoeira, Lucíola e irmã foram convidadas. Por que seria? Os Meneses, como ninguém, selecionavam as suas festas mandando vir a maioria dos convidados da capital. D. Rosália, que imediatamente entrara a preparar as “meninas”, falava no seu velho conhecimento com o dr. Meneses, nas suas “relações da cidade”. Empenhou todo o montepio do mês no enxoval, a fim de que “as meninas” não fossem fazer figura à-toa no meio de tantas pessoas finas de Belém.
Quebrara a pucarina, nova-nova, com os atropelos da última hora. Dadá, esta chorando de impaciência e raiva, d. Doduca, talvez de propósito, atrasara-se com o vestido. Tinha que desmanchar a cintura que apertava. Finalmente partiram numa lancha e em Tarumã, porto da fazenda no Arari, longas horas esperaram condução por terra para a festa. Seguiram numa carroça de bois e essa viagem sacudida e lenta pelos campos foi uma agonia, de tão demorada. Quando atravessaram o bosque e avistaram os pavilhões da fazenda, Dadá escondeu o rosto sob o guarda-sol que abrira. Lucíola, esta, não soube nem como pegar na mão que um moço desconhecido lhe estendia, risonhamente, para ajudá-la a descer da carroça diante do alpendre de Marinatambalo.
Lucíola, então, conheceu de perto o dr. Meneses. Pareceu-lhe um inglês que passara uma vez pelo Arari catando cacos de barro. Tinha uma alegre vermelhidão no rosto, o chapéu colonial, as altas botas de caçador. Seria mesmo o homem cruel de que falavam? Teriam aquelas mãos amarrado vaqueiros no tronco de espinhos, deixado em carne viva os caboclos moídos de muxinga?
[228] Preocupava-se com o menor incidente que pudesse molestar os convidados, a falar de vez em quando com os estrangeiros ruidosos e loiros e sempre na língua deles. Ele inventara aquela caçada no bosque e no balcedo onde havia jacaré. “Uma caça à fantasia”, pilheriava, no meio dos cavaleiros que aprontavam as mochilas, comiam pão e exibiam as armas como adornos. As moças vestiam roupa de homem, observava Lucíola, um pouco constrangida nas suas roupas municipais. Lenços na cabeça, chapéu à moda rústica, até mesmo alguns pés nus na balança da sela, mas o ar sempre da cidade. Quase todas escarranchadas nos cavalos diante do pavilhão, num festivo e ao mesmo tempo distinto impudor, tinham para com Lucíola uma condescendência, uma afabilidade que ela recebia com vago ressentimento, timidez e desconfiança.
Tratava-se de caçar pacas e capivaras numa ilha cerrada próxima ao bosque onde havia também porco-do-mato. Depois era a matança de jacarés. Lucíola preferiu montar de banda ao contrário de Dadá e as raríssimas convidadas de Cachoeira, que tudo faziam por imitar as moças da cidade. Manteve-se naquilo que julgava o seu recato menos sincero que forçado, um pouco atordoada com a correria numerosa dos cães, a jovialidade dos estrangeiros, a afoiteza das moças, o galope dos caçadores, gritando por simples animação ao som da buzina que o dr. Meneses soprava para causar maior divertimento no meio da comitiva, O rapaz risonho que a ajudou a descer do carro dos bois não escondeu o seu espanto ao vê-la montada como uma freira...
— Pois a senhora, uma marajoara...
Lucíola não respondeu, sorrindo, quase ofendida. Ele falava de Marajó como de uma terra unicamente de índios, de mulheres brutas escanchadas nos cavalos em pêlo. Era marajoara, sim, mas não vaqueiro, poderia ter dito a ele. O rapaz sorria para ela que segurou as rédeas com uma decisão brusca e deu um curto galope, O animal era muito manso — para moças. Gostaria então de exibir-se para aquele homem, montada num alvação brabo, marajoara inteiramente. Como isso lhe era impossível, procurava modos de moça que nunca esteve habituada ao campo, a vaqueiragens, olhando de revés para o rapaz. E ouvia a buzina do dr. Meneses [229] como um chamado para ela e para onde? Um cavaleiro de chapéu e gravata gritou que o fazendeiro era... (Lucíola queria lembrar), mas não sabia mais o nome, (“Te lembra, Lucíola”). Mas escutou depois o nome “valter escote” que se confundia com livros, histórias, castelos, a Inglaterra, a caçada. Já em Cachoeira perguntou ao Salu se conhecia algum livro com esse nome que mal sabia pronunciar, quanto mais escrever. No entanto, esses fragmentos de conversas, nomes estrangeiros, castelos, ficaram na memória de Lucíola como carvões mal-apagados sob a cinza.
No meio da comitiva e do alarido da caça que lhe lembrava um acompanhamento de cavaleiros em procissão de Nossa Senhora, Lucíola experimentou uma sensação de riqueza e de alta sociedade, como se fosse filha de fazendeiro, parenta dos Meneses, nunca Lucíola Saraiva. A fúria dos cães, os gritos dos homens, o tropel dos galopes, a fuga dos bichos, a descarga das armas davam-lhe uma súbita e áspera exaltação de vida em meio a um singular pressentimento de que ali se despedia de seus melhores tempos de moça.
Tão exaltada ficou que perdeu o recato, escanchou-se no animal e galopou sem rumo, distanciando-se, já em pleno meio-dia, ao fim da caçada, no puro prazer do galope e da iminência de um perigo. Depois de atravessar uma “ilha” e desembocar numa campina, olhou para trás e viu um cavaleiro a persegui-la. Deteve-se, ofegante e envergonhada, exagerando a sua surpresa e a perseguição. O cavaleiro aproximava-se, o cavalo castanho cresceu sobre ela com as suas crinas, a cabeça fabulosa, a sela luzindo e o homem diante dela, dominando o animal que relinchava. Era o mesmo rapaz risonho, agora vermelho e molhado de suor. Defrontaram-se em silêncio, naquela hora muito quente, do meio-dia. Vinha de longe o ruído dos caçadores. Ela esperou um gesto, uma palavra, um movimento, uma ousadia dele na exaltação, na fadiga e no abandono em que se achava. Temeu um desfalecimento e agarrou-se às rédeas, ao pescoço do animal com receio de cair. O cavaleiro, que se afastara um pouco, olhava distraído a campina solitária. Longe, ouviam-se confusamente os cães e a buzina. O rapaz, então, ensaiou um chouto de volta. Regressaram no mesmo galope, ela decepcionada e feliz, sem saber o que sentia, [230] admirando o respeito e a distinção com que aquele homem a tratava e despeitada também por isso. Confusa, viu-se repelida ou talvez lisonjeada, sem nenhum encanto para um homem ou capaz de ter inspirado um sentimento mais profundo àquele rapaz da cidade, de nome que nem sabia. Acelerou o galope para que todos seus sentimentos se dispersassem e a deixassem chegar ao pavilhão, sozinha e sem chamar a atenção de ninguém.
Lucíola agora acreditava que o desfecho daquela festa, a última realizada pelos Meneses, viera anunciar o fim da fazenda. Não esquece: eram onze da noite, dançavam na casa grande quando gritos no bosque e uma agitação no pátio fizeram parar a música e todo o mundo desceu atropeladamente seguindo os brados de Edgar Meneses em direção do arvoredo. Debatendo-se entre os braços dos amigos, Edgar Meneses gritava, apontando para diante:
— Quero que todos vejam. Que todos vejam primeiro, antes que eu...
A massa dos cavaleiros e damas avançou na sombra e logo atônita, já de olhos no chão, retrocedeu à luz do carbureto que se projetara sobre um tamarindeiro alto.
— Aí está... Vejam. Tal como peguei agora, agora, com o vaqueiro, o Julião, um vaqueiro, agora no tabocal...
Aturdida, Lucíola viu uma mulher, nua e amarrada ao tronco, retorcer-se dentre as cordas e enfrentar, num segundo, a luz e todos aqueles homens e mulheres que recuavam sem fitá-la. Era d. Adélia que, horas antes, dançava com o marido, o Edgar Meneses, muito bonita, sorrindo, a face meio oculta no leque entreaberto. No curto olhar e na imobilidade em que ficou, arquejando, o seu silêncio de terror e de instintiva revolta revelava uma selvagem e triunfante repulsa pelo marido que se debatia ainda nas mãos dos amigos para investir sobre ela. Quando o levaram, a luz do carbureto apagou-se como também as luzes do salão da casa grande. Lucíola, numa vertigem, foi-se arrastando no meio de toda aquela gente que se retirava às pressas e uma solidão caiu no bosque, tão funda e escura que os longos soluços da mulher já seriam também pela próxima desgraça dos Meneses.
D. Adélia ficou no tronco até a madrugada quando o [231] cunhado a soltou, atirando sobre a sua nudez uma baeta vermelha e mandando-a montar no cavalo que a levou ao Arari. O vaqueiro semanas depois apareceu morto num lago, meio comido pelos jacarés.
Lucíola, excitada com aquelas recordações, voltou para o pavilhão sentindo-se velha para sempre, vendo a manhã derramar-se, silenciosamente, sem uma asa, pelo bosque onde as folhas continuamente caíam.
Alfredo dormia ainda.
Ao contemplá-lo, de longe, via nele a restituição de seus felizes temores, descontentamento e decepções, quando participou da caçada, do imenso almoço diante do boi inteiro assado na grande fogueira e durante a primeira noite do baile, pois foi na segunda que aconteceu o episódio de d. Adélia.
Ficou no meio do caminho, úmida do orvalho, uma ou outra folha caindo nos seus cabelos, indecisa e alheia de si mesma, olhando o menino como a um recém-nascido.
Alfredo acordou com uma cara de susto, os olhos muito grandes para o fundo já iluminado do bosque de onde surgia aquela mulher de branco, alta, de cabelos enrolados. Não era um espectro, mas Lucíola. Não reagiu com a surpresa, o susto passava, sentia-se amolecido e distante dos acontecimentos da noite. Como poderia ela vê-lo acordado, resolveu disfarçar que continuava a dormir. Teve certa satisfação de se mostrar digno das preocupações de Lucíola sem, contudo, deixar de ficar ressentido com aquela nova intromissão dela em sua vida. Sabia, com certeza, o que sucedeu no chalé. De repente, se lembrou de perguntar-lhe por sua mãe. Estaria viva? Estaria? Por que perdera o medo, nem continuava desesperado pelo que poderia ter acontecido no chalé?
Fingiu que dormia e quis também fingir um grande desespero pela morte de sua mãe para humilhar e agoniar Lucíola. Esta sobressaltou-se ao vê-lo naquele fundo sono. Tocou-lhe no queixo e murmurou:
— Meu filho, se acorde. Está tarde. Se levante, sim?
[232] Era como se aquela cena lhe fosse habitual, todos os dias, na hora de despertá-lo. Lucíola chamava-o, esforçando-se para ser a mais simples e a mais natural possível. Mas o temor crescia e uma nova onda de emoções perturbou-a. Como suas mãos tremiam!
Ele soltou um gemido, teve vontade de rir, caçoar dela, dizer-lhe que fosse embora, sumisse. Que o diabo ou o lobisomem a levasse. Sabia que estava ali, ridícula, a cara macerada, a testa larga, um traço meio roxo na boca, o nariz de defunto. Lembrou-se dos seios. Permaneceu naquela inércia até que um desejo mais forte de saber como passava sua mãe e o que aconteceu, depois, no chalé, fê-lo levantar-se bruscamente e interpelar Lucíola, como se quisesse acusá-la:
— E mamãe?
Lucíola tentou responder, como uma culpada, como se ele compreendesse que ela uma vez pensara matá-la. O olhar do menino penetrava-a.
— Quero saber o que se passou com mamãe. E a senhora, que é que faz por aqui? Por que ao menos não foi lá saber? E quem lhe mandou aqui, por que anda me espiando?
Logo compreendeu que aquela voz da noite era a dela que o acudira e o levara para ali e isso aumentou o seu despeito e a sua raiva porque, diante de seus olhos, Lucíola diminuía sua mãe, tinha um triunfo sobre esta.
Pôs-se a soluçar baixinho, entre sincero e por cálculo, no seu abatimento e na sua revolta. Lucíola, perplexa, sem saber o que falar, pousou a mão no ombro dele:
— Meu filho, sossegue. D. Amélia está bem. Esta viva.
Lucíola, no íntimo, indagava: quem sabe? Estaria viva mesmo? E a verdadeira mãe não estava ali, com ele, amparando-o?
— D. Amélia não está doente. Vai tudo muito bem lá.
Alfredo tinha o rosto descido sobre o peito.
— D. Amélia está bem.
— A senhora não sabe. Não sabe de coisa alguma. A senhora não se meta.
— Sei, meu filho. Você não pediu que lhe desse notícia? Tudo aquilo de ontem já passou.
— Aquilo o quê? Que foi que a senhora viu? Quem lhe [233] perguntou? Por que a senhora não vai embora e não me deixa so. Tenho pernas. Sei o que vou fazer. Me deixe, me deixe...
Alfredo calou-se, fatigado. Lucíola esperou com uma grave, pungente paciência a que se ligavam os restos da tão excitante recordação de 1910. Se tivesse sido ele o filho daquele instante inesperado na campina, se tudo houvesse mudado por causa daquele galope insensato? Não pôde encarar o menino que a fitava com uma expressão de raiva, nojo, tristeza e dor, como assim entendia ela.
Fácil foi a Alfredo saber que sua mãe estava viva e os ressentimentos da véspera subiram-lhe como lama revolvida. Ficou de pé, com as mãos no rosto, encabulado, deixando enfim que ela lhe abotoasse a blusa, ouvindo-a dizer que teriam de chegar à casa da fazenda para pedir um café.
— Você, meu filho, está frio-frio. Tem que tomar alguma coisa.
— E onde estamos? Perguntou ele, de testa franzida.
— Em Marinatambalo, meu filho. Depois eu lhe mostro a fazenda. Você não conhecia ainda. Mas já lhe falei muitas vezes dela, lembra-se? Não falei? Pois você foi um homenzinho, andou tanto que veio parar aqui. Olhe ali o pavilhão de caça. Depois lhe conto a história desse pavilhão. Vamos ver se a gente arruma um café, vamos? Ah, vai se admirar de tanta coisa aqui, do que isto foi e o que agora é. E não está sentindo um cheiro de fruta, não?
Com que animação falava agora, doida para agradá-lo, excitar-lhe a curiosidade e agradar-se a si mesma também, voltando a galopar no campo entre as buzinas e os caçadores de 1910.
Nisto, um rumor de carruagem.
Não fosse já dia tão claro e Lucíola acreditava numa aparição. Suspensa, muda, a cabeça cheia de suposições confusas e absurdas, agarrou-se ao menino que a olhava também perplexo, gelado de espanto.
Não havia dúvida. Era uma carruagem se aproximando, no clarão da manhã que invadia o bosque. Lucíola reconheceu a caleche do dr. Meneses, a mania da velha mãe deste, d. Elisa.
[234] Espanto maior para ela foi saber que a caleche ainda existia. Existir, era o termo. Para Lucíola, principalmente naquela madrugada no bosque, as coisas e os seres passavam a ter uma existência idêntica, fundidos na mesma substância, animados pelo mesmo sangue e pelas mesmas vozes. Na realidade viviam, não mais em Marinatambalo, mas em seu espírito, em sua solidão mesquinha que tentava engrandecer com a presença de Alfredo. A caleche existia ainda. Dentro, uma velha, seria ainda d. Elisa? E guiando, um moço, a cabeça do moço se cobria de ouro na luz da manhã.
Talvez sua memória andasse exagerando tudo, refletiu, vendo a caleche avançar, lenta. Suas recordações deformavam aquela realidade a tal ponto que não podia distinguir uma simples carruagem, mandada vir por um capricho de fazendeiro, daquelas carruagens dos romances do Salu, vistas nas velhas revistas, contempladas em Belém. As coisas e os seres em Marinatambalo não deixariam de estar mortos. Pelo menos parados. Pelo menos, com rodas nem molas.
No entanto, a caleche rodava, aproximando-se dela com o ruído de uma carroça, desconjuntada, como se carregasse todo o peso daquelas ruínas. Os animais a conduziam, com tamanha dificuldade, pareciam fantásticos, feitos do orvalho que enevoara o bosque. Estavam velhos, quebrados por um torpor e ao mesmo tempo pela consciência de um castigo, atrelados àquela coisa ruidosa e desmantelada. Um chicote estalou-lhes no lombo, mas não apressaram o andar, chicotada súbita e cruel que Lucíola sentiu em seu rosto. Onde, como, como, lembrara-se, quando menina havia recebido em plena face uma correada de sua mãe?
Apertou em seus braços o menino. Este estava quase certo de que era aparição. Nunca tinha visto uma carruagem senão nos catálogos do pai. Mas para ele, carros daquele tipo serviriam apenas para conduzir enterros, surgiam dos cemitérios, andavam rodando nas histórias de fantasmas. Entretanto seu medo diminuía, sentia-se em segurança naquele sol e ao lado de uma pessoa viva, embora fosse Lucíola.
A caleche parou defronte de Lucíola. Dentro, a senhora de [235] luto ergueu a cabeça branca, a mão enluvada. Segurava um lorgnon, o rosto espessamente empoado. Na boléia, o rapaz alto que se preocupava em abotoar o peito da blusa.
— E a d. Elisa, minha Nossa Senhora! Ainda vive? Murmurou Lucíola.
— Que veio fazer aqui? Gritou, numa voz rachada, a velha senhora, assestando o lorgnon. O rapaz ergueu a cabeça de cabelos alourados, a face pálida, o olhar apagado, a boca semi-aberta. Lucíola surpreendeu-se com ele. Tinha uma bela cabeça. Sua palidez, seu silêncio, sua atitude quase humilde como que atenuavam os impropérios da velha empoada e arrogante. Alfredo mal entendia o que ela falava e Lucíola escutava as grosseiras palavras, com os olhos fitos no rapaz que a olhava agora com um desdém próximo da compaixão, assim percebia a moça.
— Que veio fazer aqui? Veio tomar a fazenda também? Veio com o dr. Lustosa, com a ordem da execução? Veio aproveitar-se de nossa ruína? Mas isto não é ruína. Este meu neto saberá mostrar que não. Ele levantará a estátua do meu filho, dr. Meneses, no centro do bosque, novamente. Estão roubando de todos os lados. Essa ralé de Cachoeira está se aproveitando! E a senhora, por certo, veio a mandado das raparigas ou das mulheres casadas de Cachoeira rondar meu neto?
Deu uma risada e continuou:
— E quem são vocês para casarem com Edmundo? Não levarão ele. Vejo que a senhora não tem outro papel. Beleza não tem. senhora passou do melhor tempo. Meu neto é moço, Edmundo é belo. A senhora trouxe a incumbência de enfeitiçá-lo? Entrou na fazenda sem nossa licença. Afinal não soltaram os cães esta noite? Entrou como uma bruxa. E esse menino aí? Fale, fale! Está com medo? Mando prender a senhora como ladra do pomar. Estão roubando tudo. Tudo!
Edmundo fazia sinais a Lucíola para que não se incomodasse. A velha parou para respirar um pouco e sentiu-se sufocada. Agarrou-se ao neto que lhe murmurou algumas palavras não entendidas por Lucíola. Alfredo parecia divertido.
— Vó, disse, enfim, o rapaz numa voz branda, ela não veio para isso.
[236] — Pra isso, o quê? A sua falta de inteligência, Edmundo... Meu neto, para que você estudou na Inglaterra? Sua cabeça não funciona.
Alfredo soltou um riso rápido e seu olhar zombava. Edmundo sorriu, mas pálido, socorrendo a velha que tentava erguer-se com os braços estendidos para o pavilhão da caça:
— Ah, os tempos do meu filho, dr. Meneses. dr. Meneses! A que levou a inveja, a que levou a traição!
O neto deixou-a ficar de pé a brandir o chicote, o lorgnon pendente no peito. Declamava como uma velha atriz de dramalhão, com aquele luto, os gestos longos, envolvendo o bosque. Deu um grito, os cavalos assustaram-se como se despertassem e a caleche avançou num salto. A velha tombou e ficou de cabeça suspensa para fora da carruagem. Os cavalos pararam como se adormecessem novamente. O rapaz retirou a velha e a deitou no chão forrado por uma baeta que trazia. Lucíola acudiu. A senhora estava como que adormecida.
Isso durou alguns minutos. O rapaz soltou os cavalos e abandonou a caleche. Lucíola viu-a, então, como a desejaria ver, parada, traste inútil, andando apenas em suas recordações daquelas festas de 1910. Alfredo pôs-se a examiná-la, a olhar as rodas. Era uma coisa realmente fúnebre, fedia a defunto, a pano podre, a morcego. E pouca diferença achava, refletiu divertido, entre a caleche e a velha que continuava inerte no chão.
— Vó, vamos.
A velha ergueu a cabeça, quis falar e ficou arquejando. Logo passou a espumar, a debater-se, a gemer grosso como num estertor. Alfredo correu cheio de medo e de fascinada curiosidade: estaria morrendo? Ouvia-lhe o ronco, via-lhe a espuma na boca, o peito enorme na iminência de explodir.
O rapaz ergueu-a nos braços e em passos rápidos foi caminhando entre as árvores. Atrás iam Lucíola e Alfredo. Ao entrar ria clareira diante da casa grande e dos pavilhões, o rapaz sentiu-se cansado e despejou-a novamente no chão. Lucíola ajoelhou-se para desapertar-lhe o casaco de veludo negro. Edmundo sorriu, enxugando o suor.
— O sr. poderia buscar uma pessoa mais. Eu fico aqui vigiando.
[237] — Isto passa. Por ora, não há ninguém na casa. Passa.
Falava de pé, em pleno sol, tão pálido, que Alfredo cuidou que se derreteria como cera.
Lucíola pôs-se a contemplar os restos daquela fortuna morta. Os três chalés que constituíam a casa grande seguidos dos quatro pavilhões haviam perdido a pintura próspera, azul e branca, de 1910 e das suas paredes de madeira as tábuas caíam soltas ou podres. Somente o primeiro chalé era habitável com aquela varanda grande que serviu de salão para o baile e onde agora dormia a mãe do extinto fazendeiro.
No segundo pavilhão, atulhado de vidros, Lucíola recordou os doces de bacuri em calda que o dr. Meneses mandava fabricar na fazenda. Ganhara com eles medalha de prata numa exposição nos Estados Unidos. Embaixo do pavilhão, amontoavam-se ferro velho, varais, latas de tinta, canos, tachos sem fundo, a estatueta, azulejos, rolos de arame, selins desfeitos em lixo.
Subiram ao último pavilhão. Ela empurrou a porta apenas encostada e entrou em companhia do menino. A um canto, viam-se embrulhos de roupa velha, enfeites antigos, um chapéu colonial amassado, a armação de fogo de artifício que seria queimado na noite em que d. Adélia surgiu amarrada ao tronco.
Lucíola viu também os seus dias mais felizes atirados ali sob aquele lixo. Revirando com o pé o monte de pano sujo deu com farrapos de fantasia de carnaval, sapatos, flores de papel, garrafas vazias de champanha, tubos de lança-perfume, copos quebrados, leques rotos e entre eles estaria, por certo, aquele em que se escondia o rosto de d. Adélia. Adiante viu cordões de miçangas, rolos de cabelo postiço, um fraque e um espartilho negro.
Um espartilho negro. Lucíola quer fixar a memória nos espartilhos que vira no quarto das moças. Um espartilho negro. Alfredo fitou-a com algum espanto.
— Mamãe tinha um desses. Mas não era preto.
Lucíola não respondeu, sorrindo, com o espartilho na mão, [238] soprando o pó e vivamente ferida pela lembrança do menino que lhe falava da mãe. Para que falar em sua mãe naquele instante? Sua mãe. “Eu, sim, que tinha muitos espartilhos”.
Alfredo agachou-se para apanhar as varetas de um leque.
Foi quando uns passos lentos fizeram Lucíola voltar-se, para a porta, com o espartilho negro estendido no braço, Alfredo achou estúrdia a atitude dela, de encabulada, sem ter coragem de fitar o rapaz que sorria e apontava para o espartilho, querendo dizer qualquer coisa, lembrar-se também, fazer uma pilhéria. Por fim:
— Não sei de quem era. Talvez da mulher do meu tio Edgar. Afinal os donos desses restos e destroços são todos defuntos, pelo menos fora do tempo. Um espartilho assim serve para apertar esqueletos ou fantasmas.
Lucíola largou o espartilho no chão, batendo as mãos na saia, desculpou-se:
— Entrei por curiosidade... Não sabia...
— Não importa. Encontrei também isso quando aqui cheguei. Já tinha vindo alguma vez à fazenda?
Lucíola primeiro olhou para Alfredo que se afastara e baixo falou:
— Não. Nunca vim aqui. Não conhecia. Era uma fazenda bonita?...
— Era. Talvez. Não conheci a fazenda do tempo do meu pai. Estive sempre ausente. Encontro agora esse fantasma de fazenda.
— Por que não trata de levantar ela de novo? Indagou Lucíola irrefletidamente, logo certa de que fazia uma indiscrição.
— O esteio caiu. Caindo o esteio, não há nada que levante. Foi apenas isto que me deixaram. E aquela avó.
Lucíola havia tempos não travava conversação com rapazes e principalmente com um homem daqueles, educado e para ela muito estranho. Sentia-lhe desgosto, azedume, nas palavras, qualquer coisa que a impedia de julgá-lo com a má-fé com que há muito vinha julgando os homens, os adultos, em suma.
Desceram em silêncio. Lucíola viu, coberto pelos parasitos, o gasômetro abandonado. O poço revestido de mato e sem o [239] cata-vento. Que fim levaram as ovelhas, os porcos vermelhos, as galinhas americanas, o lago com os gansos, a arara Rosa, o viveiro das cobras?
Ficaram sentados na varanda diante da velha adormecida, A espera que a vigia da casa, d. Marciana, aparecesse. Saíra muito cedo para o campo em busca de lenha seca. Edmundo, na cadeira de embalo, não conversava, a pentear-se de vez em quando. Uma vez levantou-se para acender o cachimbo.
Lucíola, nas suas cismas e recordações, quis um momento comparar alguns traços do cavaleiro da caça com os daquele moço, tentou reviver cenas do baile, recordar o lugar em que ficava no salão etc. etc. Ela dançara pouco, quase nada com o rapaz que uma e outra palavra lhe dissera durante a dança.
Alfredo queria café. Edmundo cachimbava como um velho. Lucíola caiu numa prostração e cochilou. Alfredo levantou-se e foi caminhar entre as mangueiras, pensando fugir.
Algum tempo se passou.
Alfredo, levado por d. Marciana que voltara com o seu feixe de lenha, tomou o café na cozinha. Era uma cabocla alta, de braços fortes, falando descansado.
— E a moça? VA chamar ela pra tomar café. Chame que aquela gente não se lembra disso. A velha, na certa, está falando com visagens. O neto nem como coisa... Como vai sua mãe, hein? Aquela tua mãe era uma morena bem bonita, fique sabendo... Ainda é?
Alfredo saiu correndo da cozinha para chamar Lucíola que dormia.
— Meu Deus, que horror, eu dormi. Você tomou o café? Me desculpe, meu filho. Como foi... que sono.
Alfredo, atrás dela, com uma pergunta nos lábios, pensava agora no chalé, sabendo que naquela hora, todos o procuravam. Sua mãe, aflita, teria remorso, prometeria curar-se. Andreza e Mariinha... Aqui Alfredo deixou que todo o golpe da lembrança de Mariinha morta lhe doesse infinitamente. E exasperado, [239] gritou para Lucíola que se dirigia para a cozinha:
— E quando vamos? A senhora fica ou vai?
— Vamos? Para onde?
— Para casa, ora esta. Quero ver mamãe.
Lucíola voltou-se para ele a modo de assustada. Nem havia pensado nisso. Estava tão longe da idéia do regresso e de entregar o menino aos pais, que nem sabia responder ao menino. Estou endoidecendo com esta idéia de criá-lo, de que devo ser sua mãe.
Ajoelhou-se diante dele fingindo consertar-lhe a blusa e disse:
— Vamos, sim. Mas primeiro precisa conhecer a fazenda. Para você levar uma lembrança muito grande de tudo isto aqui. Você nunca se esquecerá. Ainda não sabe o que aconteceu com o dr. Meneses. Isto aqui foi maravilhoso, meu filho.
Levou-o para a cozinha, deu-lhe frutas, procuraram as asas do cata-vento na capoeira, d. Marciana contou casos.
O menino distraiu-se, silencioso, procurou um caroço de tucumã e logo restaurou a fazenda que passou a ser de propriedade do pai, a mãe curada, ele em Belém. Estaria grande, Andreza grande, o cata-vento voltaria a ranger ao pé do poço. Seu pai teria um observatório astronômico. Aqui por certo as estrelas estariam mais visíveis. O cometa voltaria e passaria em torno dos pavilhões, rabeando por cima das fruteiras, e os bichos, a gente, o gado de cabeça virada para o cometa, o olhar abismado.
Quando o viu jogando o caroço no ar, Lucíola achou pela primeira vez muito engraçada aquela invenção do menino. Ajudava-a a ficar longe de Cachoeira e perto do “seu filho”.
Deixou-o mergulhado no seu faz-de-conta. E à sombra da mangueira, defronte do pavilhão dos doces, adormeceu.
Não durou muito o sono em que surgiu o espartilho negro no ar e um leque brilhando em torno do cavalo castanho. Acordou com Edmundo chamando-a para o almoço e perguntando pelo menino.
Lucíola correu pelo arvoredo, foi ao pomar, andou pelos campos em companhia de Edmundo. Por fim o encontraram voltando de um bambual.
— Meu filho...
[241] — Se a senhora não me levar, eu volto só. Volto só.
E ocultou com raiva o despeito de não ter descoberto o caminho de volta, reconhecendo-se muito menino ainda, demais menino, para desembaraçar-se das dificuldades, fugir como um homem que tivesse feito uma misteriosa viagem e regressasse sem ajuda nem companhia de ninguém.
Antes de subir à varanda, Edmundo voltou-se para Lucíola numa reverencia entre embaraçada e cheia de lástima:
— D. Lucíola, a senhora vai desculpar. Sei que é um procedimento inqualificável. Minha avó anda muito excitada, abalada mesmo, como viu de manhãzinha, no bosque. Eu tenho imenso prazer que a senhora e o menino estejam aqui conosco. Mas nem sei como dizer, de tão desagradável... Vovó está passando uma fase difícil. Desgosto, impressionada... Precisa de repouso que aqui não encontrará. Isso não permite que a senhora e o menino almocem conosco na sala de jantar... Seria...
— Ah, mas não se preocupe, dr. Edmundo. Não se incomode tanto assim. Nós até íamos embora. O senhor está vendo como Alfredo quer voltar o mais cedo possível. Nós vamos...
— Mas justamente o que não desejo é que a senhora regresse tão cedo. Peço que perdoe vovó e me façam a gentileza de fazer a refeição na pequena sala. Este incidente não vai absolutamente perturbar o meu desejo de ser hospitaleiro, nem permito que fiquem constrangidos, pois constrangido estou eu, com semelhantes caprichos de minha pobre avó.
— Mas não precisa se preocupar. Nós vamos almoçar na cozinha.
Alfredo, de início, pasmou diante da cortesia do rapaz, admirando-lhe os gestos, o trato, a auréola de colégio, estudos e viagens que o envolvia. Achou depois aquilo cômico e sem lógica. E maior foi o seu vexame ao ouvir a resposta de Lucíola que tentava ser “educada” também. Seria assim quando voltasse do colégio, cheio de palavras estudadas: “muito agradecido”, “mil graças”, “sinto-me constrangido”? Mas sentia-se de fato, humilhado [242] ante a resignação de Lucíola ao aceitar ridiculamente, como um favor, o almoço na cozinha. Por que não respondia com franqueza, não mandava ao diabo o almoço, a velha e as amabilidades?
Com esses pensamentos, tinha perdido o fio da conversa entre os dois e voltou a prestar atenção àquela troca de delicadezas.
— Então almoçarão noutro aposento que d. Marciana preparou.
— Mas, dr., eu já lhe disse que vamos para a cozinha. Não somos de cerimônia, dr. Edmundo. Ficaremos constrangidos se não consentir que a gente fique na cozinha. Não é, Alfredinho?
O menino deu de ombros, intimamente, revoltando-se com aquela humildade de Lucíola e com o cuidado dela em dizer “nós, nós”, como se ele concordasse com aquilo e fosse seu filho.
— Eu quero que a senhora tire a má impressão desta manhã. Fique alguns dias mais. Ajudamos assim a acalmar a velha. Olhe, depois que a senhora me contou os acontecimentos da noite passada...
Alfredo, a estas palavras, não se contendo, beliscou fortemente o braço de Lucíola, gritando, colérico:
— Que a senhora contou? Que a senhora disse? Quem lhe pediu pra dizer?
— Meu filho...
— Não me chame, não me chame de filho... Não sou seu filho! A senhora não é nada pra mim. Tenho mãe. Ouviu?
Sentou-se no chão, apertando a cabeça entre as mãos, resmungando que iria sozinho, fosse como fosse.
— Mas, meu filho... Alfredo... eu disse que você tinha um grande desejo de ver esta fazenda. Me escute. Não me olhe assim com essa raiva. Veio sem ter avisado o major Alberto. Foi so isso...
— Se eu tivesse de avisar era minha mãe. A senhora está mentindo.
— Não, Alfredo. D. Lucíola não está mentindo. Ela...
— E eu andava passeando de noite e por coincidência vim bater na fazenda a seu lado. Foi isto o que contei.
— Exatamente, meu amigo, exatamente.
— Foi isso, Alfredo, não se zangue. Então você acha que eu ia mentir?
[243] — Mentiu, sim. A senhora está mentindo. Eu nunca tive vontade de ver isto aqui. Esta porcaria. Mentira dela. Que é que tem aqui para mim ver? Lixo, essa velha, esse caco velho com roda... Estão me enganando. Ela não passa de uma intrometida. Veio atrás de mim como uma visagem. Por que não foi fazer visagem lá no cemitério?
Edmundo dobrou-se sobre o menino com uma delicadeza que encantou Lucíola. Serenou-o e disse:
— D. Lucíola não disse nada de mais senão o que ela repetiu agora. Você queria vir, não era? Isto me foi uma honra, uma alegria. Tinha vontade de ver, pensava que isto aqui fosse uma maravilha, um assombro e afinal veio ver uma velha, eu, d. Marciana e restos de fazenda. Para você, um menino, foi realmente um mal ter vindo. Nada encontrou daquilo que sonhava. Também eu como menino, até mesmo como moço, tive vontades doidas de ver o Reino do Marinatambalo. Este reino... Nunca me deixaram vir. Não queriam que os mosquitos me ferrassem e fiquei sempre longe daqui. Deram-me Marinatambalo depois que ele deixou de ser um reino. Quanto às notícias de seus pais em Cachoeira, digo-lhe — olhe que não estou mentindo — que mandei avisá-los. Avisei que você estava em segurança e dando-me o prazer de sua visita. Foi o Gomes que passou por aqui e levou o recado. O Antero, o morador do retiro vizinho, trouxe notícias de que tudo vai bem em Cachoeira. Ele teve necessidade de ir à Intendência e viu lá o major Alberto. Se houvesse alguma coisa de anormal...
Alfredo acalmava-se e ao mesmo tempo voltou a achar incoerente, absurda a explicação do rapaz. Naquele momento não discernia bem entre sonho e o desencanto de Marinatambalo, apenas achava, embora sem nitidez, em todas as palavras, em todos os gestos, em todos os rostos daqueles adultos, desgosto, ruína e fingimento. E a isso comparou o riso de sua mãe nos bons tempos, a simplicidade de seu pai descalço imprimindo rótulos, as travessuras de Mariinha.
Edmundo, por fim, concluiu:
— Minha avó acha que o que arruinou meu pai foi também deixar que “todo mundo” entrasse e comesse na fazenda, nos [244] últimos anos. Pensa que com os modos dela de receber os hóspedes e tratar as pessoas, que julga não pertencer à sua categoria, poderá restaurar a fazenda. E acredita que estou levantando a fazenda. Peço paciência com ela.
Aquela grave amabilidade confundia Lucíola. A princípio acreditou que fosse ardil para não permitir que sentasse a sua mesa, utilizando-se do nome da velha. Sondava hipocrisia naquela polidez triste. Depois foi achando até mesmo extravagante aquela linguagem. Tais palavras não ouvia da boca dos homens de Cachoeira e sim de personagens dos romances do Salu. Aquela delicadeza, tão escassa durante a sua vida inteira, perturbou-a a ponto de esquecer as ofensas de Alfredo. No fundo, achou melhor que a velha houvesse tido semelhante extravagância para que ele fosse tão amável como foi, mesmo ao mandá-los almoçar na cozinha. Mas em toda a sua perturbação boiava alguma desconfiança. Nunca se abandonara inteiramente às lisonjas de um homem. Era claro que as de Edmundo não eram lisonjas de galanteador, mas delicadezas naturais de homem instruído. Descobria nele, por fim, certa frieza, certa intenção, logo um desejo de se confessar e culpar a família por tudo aquilo. Isso não a impedia de supor que ele estivesse se divertindo à sua custa ou, quem sabe, se não era tão louco como a avó?
De qualquer maneira, pela primeira vez, depois de tantos anos, era tratada com tamanha consideração. Talvez isso impressionasse o menino, tornando-o menos ingrato e menos rude. As palavras do dr. Edmundo, concluiu melancolicamente, talvez não passassem de compaixão para aliviá-la das ofensas de Alfredo.
Edmundo levou-os à cozinha — pois não houve nada que convencesse Lucíola a almoçar na pequena sala. Alfredo sentia-se um pouco aliviado por saber notícia do chalé, também por causa dessa sempre deliciosa e tão rara novidade que era comer em casa alheia.
D. Marciana os recebeu alegremente, até mesmo lisonjeada com a resolução teimosa de Lucíola e começou a contar da longa consumição que era d. Elisa.
D. Elisa só enxergava fantasmas, mas só de dia. Naquela carruagem aos pedaços e aos trambolhões, examinava obras e [245] criação que não existiam, gritando com empregados invisíveis. Mandava fazer jantar para seis ou dez pessoas que só ela via. De repente, era um sono, sono esse tão comprido de meter susto. Acordava com o juízo perfeito, pegava o croché e ficava horas cantando baixinho, que era uma felicidade.
Na sala de jantar, com a mesa posta como para um almoço de cerimônia, Edmundo e a avó comiam em silencio. Já no fim, antes de repetir o assunto dos dias anteriores, a velha cochichou:
— Meu filho, você disse a ela com modos para almoçar na cozinha?
E o velho terna voltava:
— Eu fiquei a seu lado, meu filho. Eu quis mandar dizer tudo. Afinal se estivéssemos no Império, se a época de hoje fosse de homens de barbas como teu avô, nada disso sucederia. Teu pai morreria barão.
— Barão só, vovó?
— Barão.
A velha acentuou a palavra com um suspiro e um gesto imperial sobre a mesa.
Edmundo olhou para a avó com bonomia: o cabelo branco tão bem penteado, as rugas pintadas, o buço, a boca flácida. O que havia ainda de autentico e humano naquela ruína eram os brincos.
Humilhara Lucíola e sobretudo o menino. Poderia ao menos pretextar que a sua avó não queria almoçar e ele mesmo... Afinal, d. Marciana tinha uma língua e o pretexto seria destruído. O pior foi atirar abertamente a responsabilidade em cima da avó. De que valeram tantos anos de Inglaterra para acabar recusando aquela mulher e aquele garoto na sua mesa e enxotá-los para a cozinha? Tinha vivido entre gentleman e não soubera senão ser um bruto, nem discreto, nem resistir à fantasia daquela avó ridícula. Também se sentia na fazenda como um estranho, um intruso, às vésperas de enxotado.
Via em Alfredo um rude orgulho. Utilizava-se de Lucíola como de uma serva. No entanto, coitadinho, o mundo o devoraria na velha e vasta engrenagem que se chama a luta pela vida. 246] Aquele orgulho, aquela revolta, esperança, ambições, desejo de aventura, sede de ser um homem, tudo seria triturado, queimado e reduzido a cinza na fornalha do mundo. Depois, tão pobre, tão obscuro, tão em Cachoeira!
Entretanto, invejava o menino. Invejava-lhe naquela gulodice de viver. Alfredo nascera para não ter nada e ele para ter... Riu-se. Para ter Marinatambalo. Para ser um fazendeiro. Na idade de Alfredo, que fazia? Que lhe ficara enfim da infância? Um quarto para brincar, o tédio de tudo a seu alcance, nenhuma miragem, nenhuma coisa impossível, amas e mimos. Que fizera de sua infância? Onde estaria ela quando a de Alfredo, tão nua de brinquedo e de amas eriçadas de desejos, o desprezava e o agredia?
Mesmo ao comparar a sua vida com a de Lucíola e d. Marciana, com o próprio desvario da avó, tornava-se mais impotente e derrotado.
A velha rezou um terço, fez Edmundo benzer-se, pediu-lhe que a levasse ao quarto.
Edmundo voltou, com o andar pesado, o pensamento em Alfredo. Que energia nesse menino, exclamou. E a minha? Para onde foi? Nem me importa saber o que devo fazer e para onde devo ir. Mas coitado desse menino...
Ficou cachimbando.
Ao concluir na Inglaterra o seu curso de agronomia, um ano depois da morte do pai, Edmundo imediatamente preparou-se para o regresso. Dez anos de ausência tinham-lhe engrandecido a fazenda, enterrado em seu ser fundas raízes de Marinatambalo. Partira para a Inglaterra aos 14 anos, sem nunca ter passado as férias em Marajó e desde a adolescência viera sonhando esse regresso. Sua mãe lhe havia dado uma espécie de bolsa de estudos, provinda de uma herança de família, que o sustentaria durante todos os cursos, depositando todo o dinheiro em Londres à disposição do estudante. Edmundo sempre poupou essa bolsa que o livrava das mesadas e dos correspondentes. As visitas do pai à Inglaterra traziam-lhe a presença de Marajó. Admirava no velho a cândida rusticidade acentuada à medida que o pai se preocupava em parecer homem fino, o apego à terra, exagerando essa admiração pelo [247] juízo demasiado lisonjeiro que fazia do caráter do pai e das virtudes da vida rural. Quando alguns colegas lhe falavam em viagens de ilhas do Pacífico e do Índico, era com vaidade e tom de mistério que lhes descrevia Marajó.
— Quero voltar para ser um fazendeiro tipicamente marajoara. Isto aqui é uma ilha, sim, mas que leva os seus habitantes a desejarem ver terras, viajar. E vocês possuem um império. Na minha ilha, meu desejo é ficar. Tenho o umbigo enterrado lá.
Fascinava-o também a pesquisa dos “aterros” indígenas que sabia existirem em Marinatambalo. Descobriria ossadas, objetos de cerâmica, vestígios de civilizações, quem sabe se da Atlântida... Manteria, por isto, correspondência com sábios e museus.
— Conheci Marajó, a fazenda, até os meus três anos. Daí em diante, me tiraram de lá como se não quisessem que eu voltasse a ver aquela terra. Não lembro mais. Nunca voltei e sinto que tudo aquilo está no meu sangue. Guardo o que vi, sem hoje me lembrar, nesta “cuíra”, como dizia meu pai, que tenho aqui por dentro, uma “cuíra” que só pode sossegar quando eu me for.
Escrevia à família, já depois da morte do pai: o melhor tipo da fazenda para a Amazônia é Marinatambalo. Farei mínimas reformas. Quero a fazenda com essa cor marajoara e tudo farei para que fique mais primitiva, mais colonial e meio indígena. Nas suas conversações entre os colegas brasileiros e ingleses sobre o estilo de casas rurais, afirmava:
— Quanto às de Marinatambalo, conservarei isto.
E mostrava as fotografias dos pavilhões. Todo seu quarto estava cheio de recordações da ilha. Vasos indígenas, peles de onça e de sucuriju, bicos e penas de aves marajoaras. Remirava a fotografia do mondongo: perto pastavam búfalos, era-lhe como uma paisagem paradisíaca.
Quanto à exploração do trabalho, imitaria os métodos do colonizador inglês na Ásia e na África, acentuava com simplicidade. A grande diferença, pensava, entre a cidade inglesa e a fazenda marajoara era que, enquanto os operários da cidade se tornavam cada vez mais exigentes com salários tão altos, na fazenda os vaqueiros pareciam mais felizes na sua vida primitiva, exigindo cada vez [248] menos o pouco de que necessitavam. Acreditava na inferioridade das raças de cor, sobretudo dos mestiços, admitindo certos métodos de intimidação e de castigo no trabalho das fazendas. Mas essas idéias não o entusiasmavam, aceitava-as apenas como uma verdade elementar, um mal necessário à condição da vida colonial e talvez mesmo porque não gostasse de contrariar e examinar as opiniões dominantes. Estimava a tradição inglesa, o gentleman, o Partido Conservador, recusando discutir com alguém que pusesse em dúvida as razões dessa estima. Fugia às discussões, evitava aprofundar esta ou aquela incerteza, preferindo isolar-se dos acontecimentos do mundo para assistir ao turfe e ao futebol ou encerrar-se nos estudos com aquele objetivo de voltar e plantar-se em Marajó. E maior do que o pesar pela morte do pai, lhe foi, pois, a certeza de que o substituiria no domínio de Marinatambalo. Olhando o mapa do Brasil, Edmundo localizava na vasta ilha entre o Atlântico e o grande rio, aquele reino tão seu, de tão estranho nome. Era a ilha que se atravessava no meio da luta entre o Atlântico e o Amazonas para que os dois rivais fizessem as pazes, deixando-a estirar vagarosamente as suas terras. Mal nascendo nos charcos de Breves, madura nos tesos de Ponta de Pedras e no barranco de Joanes, desenhando os campos de Cachoeira, as dunas de Soure, inchada de mondongos, Marajó que lhe parecia de lodo e aninga, búfalos, cemitérios, indígenas e bandos de aves pernaltas dominando a encharcada paisagem. Longos instantes ficava diante do mapa, banhando-se misteriosamente naquele sol e pântanos, naquele sentimento de posse... Seu aquele selvagem território.
Deixou a Inglaterra como se voltasse para o paraíso. Os últimos contos de réis de sua bolsa deram ainda para pagar a viagem, além de roupas coloniais e armas de caça, sem necessitar de recorrer à família. Durante a viagem, que sentia tão demorada e da qual nem mandara aviso a Belém, só aquele domínio de pastagens e gado onde roncavam jacarés, jaziam, quem sabe? vestígios da Atlântida, parecia entretê-lo. Em uma ou outra reflexão, perguntava a si mesmo se aquilo não passava de mania, uma obsessão de ausente ou sensação passageira de quem retorna ao lar desconhecido, ao descobrimento de sua própria terra.
[249] Não, não se enganava, concluiu logo afastando a dúvida. Ia receber simplesmente a direção de uma fazenda e isto era um começo prático de vida. Afastaria de sua frente a política local, as viagens ao estrangeiro, ignoraria Belém e o Brasil. Caminhava, com todas as sedes de sua vocação, para uma realidade nada fascinante a um outro rapaz, sobretudo que fosse educado na Inglaterra. Sentia-se tranqüilamente decidido, porque a propriedade o chamava.
Em Belém foi a revelação daquilo que há quatro anos acontecera e que ele inteiramente ignorava. As irmãs, que se haviam casado, nada queriam saber de Marinatambalo em ruína e as vésperas de ser entregue aos credores. Os bons empregos dos maridos asseguravam-lhes o esquecimento da fazenda, O irmão, engenheiro, preparava as suas malas para São Paulo. O palacete em Batista Campos nas mãos do banco. Via-os assim resignados, indiferentes ao que acontecera, como se nunca tivessem sido proprietários. Essa passividade deles aumentou o seu furor e o seu desespero a tal ponto que os irmãos o julgaram enlouquecido.
Ao receber a carta do pai que, por determinação do morto, só lhe seria entregue quando regressasse, recusou abri-la. Repeliu a hospedagem das irmãs. Fechou-se num quarto de pensão, durante dois dias, soterrado naquele desabamento.
Por insistência da avó, que logo lhe pareceu louca, leu a carta, dias depois, e maior foi a revolta contra aquele sentimentalismo que revelava o caráter malogrado do pai, contra aquela cilada, ainda sem explicação para ele, em que desabou a fazenda. Afinal, exclamava, tudo fora causado pela falta de amor à propriedade. Repelindo as desculpas da fatalidade e os conselhos do pai na carta lastimosa, insistia em dizer sombriamente a si mesmo: por que me enganaram durante quatro anos? Com que fim me fizeram toda essa armadilha? Durante os últimos anos lhe escreviam mais do que nunca sobre Marinatambalo, estimulando-o, pondo-o a par da vida da fazenda, sem que escapasse um indício sequer sobre o desastre. Só por último, o irmão lhe aconselhou timidamente que ficasse na Inglaterra “porque, com certeza, já não se habituaria mais no Extremo Norte”. Quatro anos de mistificações, de mentiras, traído, escarnecido, sem nunca ter levantado a mais [250] leve hipótese de que Marinatambalo poderia correr risco! E, ao refletir assim, acusou também a sua imprevidência, a sua ingenuidade. Seu objetivo era mais uma idéia fixa do que uma determinação prática. E por isto o enganaram mais facilmente, de maneira tão sentimental quanto ridícula, como se todos estivessem, no fundo, decididos a fazer-lhe aquela farsa para o aniquilarem de um só golpe. Dissessem-lhe a verdade, pelo menos lhe comunicassem a inclusão do tal sócio nos negócios da família e teria largado os estudos ara salvar a fazenda. Fora tratado como caçula, ser à parte, jogado no nevoeiro inglês.
Agora diante dos fatos, que o afastavam irrevogavelmente da própria razão de sua vida, recusava todos os oferecimentos de emprego em companhias inglesas, um cargo federal, a volta à Inglaterra proposta pelo cônsul britânico, velho amigo do seu pai. Não condenava apenas a família, os poucos amigos desta, a sua ausência e o seu erro, mas toda aquela cidade provinciana que agora parecia rir dele, pretensiosa e vingada.
Contou as sobras da bolsa que trouxera, graças ao seu metódico espírito de poupança e maldisse a iniciativa da mãe que lhe cortara as ligações reais com Marinatambalo, com os negócios da família. Culpava-a também e essa nova culpa aumentava a sua ao ter ficado alheio, ignorante da verdadeira situação da fazenda. Sem despedir-se dos irmãos, embarcou para o Arari. Encontraria o tio Edgar; esse pelo menos não saíra de Marajó.
Chegou a Cachoeira numa tarde de trovoada, seguindo imediatamente para Marinatambalo. Lá pela madrugada, montado num cavalo manco que lhe cedera o sargento da guarda rural, a pesada bagagem atrás num velho boi cargueiro conduzido por dois caboclos a pé, surgiu ele na fazenda, encharcado, de polainas, barba grande, a espingarda à tiracolo. D. Marciana, no abrir a porta, alarmada com os gritos que vinham de fora, não pôde reprimir, ao vê-lo, a exclamação:
— Meu Deus, é mais um!
Na cozinha, ainda indecisa se deveria fazer o café, diante do fogão apagado, resmungava:
— Como se não bastasse o haver de fantasma que existe aqui, [251] me aparece mais este um. Homem no seu juízo nunca que pode vim parar aqui nisto e do jeito que vem. Esse menino morreu foi lá na Inglaterra e é a visagem dele que está aqui. Ninguém me tira isso da cabeça...
E foi ao surpreendê-la assim que, pela primeira vez, em todos aqueles dias atrozes, ele riu alto e longamente. Depois, em silêncio, já descalço, sem camisa e de calção, sentou-se no parapeito da janela que dava para o bosque e pôs-se a sacudir as compridas pernas penduradas, os ligeiros pés alvíssimos batendo com os rosados calcanhares na parede. E o seu busto cresceu, nu e branco, no quadro escuro da janela para o assombro da velha Marciana e dos caboclos.
Quatro búfalos mansos, algumas reses, seis cavalos velhos, um misterioso rebanho de búfalos bravios circulando à roda do vasto mondongo a léguas da sede da fazenda, uns nativos nos retiros e era tudo que restava além da casa grande e de seus pavilhões, o pomar e o bosque. Nunca uma propriedade se arruinara tão rapidamente, num abandono tão definitivo na ruidosa intimidade da velha Marciana com os fantasmas.
Edmundo não respondeu a nenhuma das cartas que os irmãos lhe escreveram, suplicando-lhe que regressasse. Recebeu pormenores do desastre, “já que, por falta de calma, não quis saber pessoalmente o que foi que aconteceu”. O pai, dr. Meneses, por fraqueza, amizade, coisa fácil nele, ou entusiasmo de ampliar os negócios, aceitara a participação daquele sócio bem falante, o Zacarias Barata, que vendia zebus de Minas no Pará.
Ao cabo de poucos meses, Zacarias mostrava grande capacidade de iniciativa e trabalho. Maior foi a confiança dos Meneses precisamente num período em que as moças andaram gastando muito, contraindo dívidas, reformando o palacete, viagens ao Rio etc. Voltando de Minas com uma partida de zebus, Zacarias consultou o dr. Meneses se poderia avalizar um empréstimo de seiscentos contos que pretendia fazer ao Banco do Brasil. O fazendeiro não vacilou. O sócio não perdeu tempo, fugiu.
Em suma, o Banco do Brasil, seis meses depois, avançou [252] sobre Marinatambalo para cobrar os seiscentos contos, O irmão de Edmundo, disposto a morrer ou a matar, vai ao encalço do fugitivo, Rio, Minas, Porto Alegre e não o encontra.
Os credores do dr. Meneses, as dívidas montavam a duzentos contos, alarmaram-se e tomaram também medidas contra o fazendeiro, que pediu uma concordata. O banco manda fazer execução judicial em Marinatambalo e aí Edgar Meneses e o irmão de Edmundo, acuados no bosque, recebem a diligencia a bala. O banco recua e ficou combinado que o pagamento seria feito com a venda do gado mantendo-se a hipoteca da fazenda. Em poucos meses escoa-se o grande rebanho de Marinatambalo. Dr. Meneses, prostrado, na cama de um hospital, cede a tudo, gemendo que a solução era a paz do Senhor ao lado da mulher. Joaquim e as irmãs, sem possibilidades de continuar a luta, decidiram então deixar Marinatambalo à sua própria sorte naquela hipoteca. E Edgar Meneses recolheu-se a um retiro de sua propriedade nas vizinhanças de Marinatambalo, confiando a fazenda à guarda de d. Marciana, velha empregada da família.
Estas cartas que minuciosamente descreviam a marcha do desastre não causaram mais nenhuma impressão a Edmundo. Chegavam tarde, seu endereço era a Inglaterra, dizia ele, rasgando-as em pedacinhos. Tinha resolvido romper com os irmãos definitivamente. E acrescentava: se na primeira ofensiva do banco resistiram, por que não continuaram a resistência? Não era claro que o dever seria morrerem todos juntos ali? Não seria mais digno que o pai, em vez da cama do hospital, tombasse à porta da casa grande como um verdadeiro proprietário? Essa era a lei da propriedade que violaram e essa traição não se perdoa porque deixava a ele, um sobrevivente, apenas vergonha, pobreza e medo da vida.
Agora estava a fazenda para ser entregue ao dr. Lustosa, que negociava com o banco. Edmundo poderia permanecer ali talvez por um ano ou ficar à merca da generosidade do novo proprietário.
Uma tarde, repentinamente, Edmundo ergueu a cabeça à saída do bosque e decidiu procurar os aterros indígenas existentes na fazenda.
[253] Vestiu sua roupa colonial, sem reparar que, aos cantos da cozinha, poeirentas urnas indígenas guardavam milho, selins e arreios velhos, galinhas da velha Marciana chocando. Regressou à noite com uns cacos de barro no bolso e um infinito mau humor. Durante quase toda a noite andou pela varanda, recitando alto umas coisas talvez lá na língua da terra onde ele se educou”, como disse a velha Marciana, cada vez mais convencida de que era um louco aquele moço fantasma.
Noutro dia, muito cedo, foi visto laçando um dos búfalos mansos que pastavam à frente do bosque, tentando montá-lo. O animal era dócil e poucas semanas depois, para espanto de d. Marciana, Edmundo troteava por entre as árvores do bosque, de calção, muito branco sobre o búfalo negro.
E foi então que, num meio-dia, no mesmo cavalo manco e atrás as malas no mesmo boi cargueiro, apareceu d. Elisa Borges de Meneses, a avó, gritando que estava “disposta a ajudar o neto a levantar de novo aquela fazenda”.
Edmundo aceitou sua avó, como se a loucura dela fosse o complemento de sua desgraça. E logo passou a pescar, remando em cascos, pelos igarapés, caçando em ilhas distantes, topando com novos cacos de cerâmica, ora descalço, vestido a vaqueiro, ora dentro das roupas de explorador inglês, mas tudo isto sem significação nem indicio de esperança. E voltar para a cidade era-lhe inteiramente insuportável.
Consertou a caleche para servir à avó, percorria os retiros próximos, foi sabendo de algumas crueldades do tio, justificando-as porque assim ditava “a lei dos pioneiros”. E o curioso era que não tentava ainda a se avistar com o seu tão sonhado mondongo.
Foi nesse estado de espírito, que Lucíola e Alfredo vieram conhece-lo. E a presença daquela mulher, que sentiu resignada e triste e daquele menino, que parecia desprezá-lo e ter um violento apetite pela vida, animou-o a encontrar-se com o grande pântano em companhia deles.
Ao chegar à porta da cozinha, Edmundo ficou encostado à [254] parede, ouvindo aquela conversação lá dentro sem poder explicar porque aquela tranqüilidade o fazia tão indigno das pessoas que ali estavam, sobretudo daquele menino. D. Marciana continuava falando.
— De dia é sempre assim. A velha devia estar na cidade se tratando com os doutores. Se ao menos ela fizesse como eu faço, lidando com as almas...
— Com as almas?
— Ah, a senhora nem imagina. E uma canseira. Se eu não tivesse minhas orações, meu anjo da guarda, nem sei. Nem sei o que acontecia. Pouco durmo certas noites. São os mortos do lugar. Esta fazenda se chamava Santo Inácio. E por isto o castigo foi maior. Para que o finado dr. Meneses veio com a invenção de um nome que até hoje não sei chamar? Agora, pra lhe dizer uma verdade, não tenho medo. As visagens aparecem e vou ver o que elas querem. Bato o pé com elas, ralho, dou conselho, pareço uma mãe delas.
D. Marciana riu, erguendo-se para abafar o fogo:
— Eu vejo elas com estes olhos. Não tenho cara de mentir. Dou com a língua neles. Pergunto se é o Dias que morreu de uma bala de rifle no vazio. Se é o Pedro Navegante que perdeu a fazendinha e se findou amarrado no tucumãzeiro. Se é o finado Armando Pessoa que mataram e botaram os grãos dele na boca, depois de cadáver. Se são os Bolachas, se são as moças infelicitadas, outros, outros. Mas elas não têm língua. Dão gargalhadas. Soluçam. Gemem. Acendem velas. Cada gemido de meter pena, a senhora deve imaginar. Então pego a vassoura e começo a varrer elas do soalho, pois elas me espiam dos buracos, lá de baixo, pela fresta. Eu sinto, D. Lucíola, os olhos delas assim como uma coisa que querem dizer e não podem, d. Lucíola.
Falando vagaroso, d. Marciana não alterava a voz, os mesmos gestos tranqüilos. Lucíola tinha os olhos nela. Alfredo escutava como nunca escutara uma história.
— Em vez de me assustar são elas que se assustam com a minha varrição, com meus gritos. Eu sempre digo: que é que vocês querem? Querem reza? Aí eu rezo, rezo, rezo, me lembro de [255] tudo quanto é oração, tudo que sei de reza. Mas que nada. Começam de novo os gemidos, baques, bater de porta, barulho de gente apanhando, moças de cabeça baixa chorando. Acendo velas, tenho então uma pena de todas essas moças. Medo, não tenho. Pergunto se querem algum recado, saber uma notícia, uma ladainha, fazer qualquer confissão, culpar algum malvado ainda vivo. Pergunto quem são elas ou eles. Que pena estão sofrendo? Pergunto. A senhora falou? Assim eles.
Aí Alfredo riu. Para ele, d. Marciana comparava Lucíola a uma visagem.
— Por que está rindo, Alfredinho? Não está com medo?
— Não estou me rindo de nada. Não estou com medo.
— Depois, tamanho dia, não, meu filho? E a senhora, d. Lucíola, já ouviu falar desta minha consumição, lá em Cachoeira?
— Ah, não, d. Marciana. Nunca.
— Faço uma idéia, eh... Falam, sim, que eu sei. Eu mesmo conto. Rodolfo nunca se lembrou de lhe falar?
— Nunca, d. Marciana. O que a senhora está me dizendo é surpresa.
— Eu faço uma idéia... Bem que a senhora não quer dizer... Mas, como eu ia contando: eu pergunto se elas querem cumprir alguma promessa. Indago, quem te tirou a honra, finada, para estares penando. Tu és a finada Mundica Paiva? Tu és a Felisberta? Tu és a Liliosa? Querem saber dos filhos? Querem água, comida? E olhe que sempre deixo a mesa do jantar com os pratos sujos para só lavar noutro dia por causa das almas. Deixo o copo d’água no chão, deixo prato e comida, até um cobertor velho para que se cubram, sei lá. Talvez sintam frio, sei lá, tudo quanto é pensamento me vem na cabeça. Mas o que querem, d. Lucíola, eu já maldei aqui comigo. Querem é se vingar dos brancos, dos patrões. Dessa Menesada toda. E, minha irmã. E. Agora, por que eles não se encontram por lá? Elas não sabem que a maior parte desses brancos já morreram? Não se conhecem por lá? Elas querem se vingar e caem em cima da fazenda. Este lugar não tem nada com o que os brancos fizeram. E isto ficou de repente uma tapera por via deles. Parece que elas mexem com as paredes, com as coisas, da [256] feita que elas botam a mão parece que tudo apodrece, vem caindo. Eu estimo este lugar. Pra mim foi e sempre será Santo Inácio. Diz que o dr. Lustosa vai tomar conta disto e desmanchar tudo. Aqui vai ser só campo. Assim disseram. E olhe, não é por amor da família que estou aqui. É porque me acostumei. Tive um filho aqui, aqui nasceu e aqui se enterrou. Este sei que não vem fazer visagem. Ele está no céu, assim espero. Tinha a idade deste menino.
Lucíola, arrepiada — falar no filho morto na idade de Alfredo — olhava para o menino, piscando para que não se incomodasse. Mas Alfredo ouvia com a tensa seriedade dos meninos. As almas queriam vingar-se. Toda riqueza será feita sempre à custa de tanta malvadeza? As almas não sabiam que os seus patrões estavam mortos?
E depois de um silêncio, perguntou:
— Essas visagens não querem se vingar no dr. Edmundo?
D. Marciana riu alto, mas Lucíola empalideceu e ergueu-se rapidamente, vendo Edmundo à porta, risonho:
— Talvez seja isto mesmo, Alfredo. Talvez queiram se vingar em mim, neste seu amigo.
Disse com polida naturalidade. Pousou carinhosamente as mãos nos ombros de d. Marciana enquanto Alfredo retirava-se encabulado e ao mesmo tempo triunfante pelo que ousara dizer.
Depois de tantas histórias sobre fantasmas, sabendo que d. Marciana se preparava para ir ao encontro deles, Lucíola voltou ao quarto rapidamente e embalou a rede de Alfredo num gesto de proteção, com remorsos por tê-lo abandonado. A luz do candeeiro estava bem diminuída.
— Como foi que deixei ele aqui tanto tempo sozinho...
Tal era a naturalidade com que d. Marciana lhe falava das visagens que estas deixavam de meter medo e as histórias a prendiam na cozinha.
Mal via o menino, na sombra, meio enrolado no lençol. Apalpou-lhe a testa, os lábios se mexiam. Está sonhando, cochichou ela. Estava para falar sonhando. Temeu então que ele [257] falasse, pois poderia chamar pela mãe, com medo das visagens, soltar suas ocultas raivas contra ela, Lucíola.
Com a janela aberta, o quarto clareou, não era necessário aumentar a luz. O rosto do menino se tornou tão nítido como se estivesse despertando e se enchendo de cólera ao apanhá-la naquela atitude. Andando pelo quarto, estalava os dedos, as fontes latejavam. Que sinto, meu Deus, perguntou a si mesma. Quase sufocação, desejo de chorar e de rir, uma vertigem de adolescência, certa sede de delírio. Foi, descalça, espalhando os cabelos nas costas, olhar à janela. Algum tempo ficou assim sem pensamentos, sem temores, apaziguada. Minutos depois o maciço das arvores lhe falava do corpo de d. Adélia Meneses, aquela nudez ardia no tronco do tamarindeiro. D. Marciana contava que meses depois a árvore secou.
Fez um hum, hum, cantando em surdina. Um vento desceu e se espalhou por entre a folhagem como bandos de passarinhos. Uma e outra porta nos pavilhões bateu nos batentes. Alfredo ressonava. Lucíola aspirou a noite, aspirando também as velhas noites da juventude.
O vento parou, o arvoredo pesou no silêncio como a idade em Lucíola. Longe, alta uma estrelinha velava pelo sono de Alfredo, guardando as noites que esperariam por ele.
Fechou a janela, aumentou a luz; estaria d. Marciana às voltas com os fantasmas?
Se fosse mais corajosa, iria espiá-la. Não. Não deixaria o menino só.
A seu lado um ser humano crescia, desabrochando a sua força e o seu egoísmo que o afastavam dela para sempre. No sono e nos sonhos é que as crianças crescem, sabia.
Com mão tímida tocou-lhe a rede, como para acordá-lo, parar-lhe o crescimento. Ele fez um en, en... Abriu os olhos, fitou-a como a uma desconhecida e resvalou no mesmo sono, de bruços.
D. Amélia resolvera mandar Sebastião a Marinatambalo, mas o irmão amanhecera naquele dia com frio e febre, metido na [258] despensa. Ela, então, dirigiu-se ao Leônidas, um sobrinho do major Alberto que chegara na véspera de Belém:
— Tu bem que podia dar um passeio lá, Leônidas. Tu já conhece a fazenda? Não? Pois seu Alberto que te conte. Bem que tu podia buscar Alfredo pra mim. Ou... espera, diz a ele que pode ficar... lá... por uns dias. Os dias que queira. Talvez me dê tempo de arrumar as coisas aqui para o colégio, aquilo que ele chama o colégio. Tu vais, Leônidas? Não perdias nada, vias a fazenda, conhecias d. Marciana. Eu podia ir. Mas não... Posso me estranhar com nhá Lucíola. É uma matintaperera aquela moça. Que andava fazendo no campo naquela noite? Aquele meu filho...
Horas depois, Leônidas pronto para sair, d. Amélia, numa das suas tardes de semiembriaguez, teimou em querer acompanhá-lo. Atendeu a uma menina que lhe viera pedir uma colher de açúcar e outra de mamona. E cochichou:
— Toma. Esta não é a República que eu sonhava, como diz seu Alberto.
E riu alto, enquanto, na saleta, Major punha um peso sobre a carta que recebera da irmã.
O sábio não fizera a operação, porque a cegueira de Marialva não tinha cura. Mas as despesas da consulta e da estada em Belém consumiram quase todo o dinheiro, alegava d. Elvira. E explicava: “Do pouco que sobrou, mano Alberto, tive que lançar mão para uma despesa urgente que é a da colação de grau de meu filho que, não sei se sabias, formou-se, graças a Deus. Logo que Afonsinho conseguir o emprego prometido pelo padrinho, o senador Camilo, nós iremos te amortizando. Marialva chorou muito. Nunca tinha ido à cidade. Chorou muito. Que se há de fazer? E a vontade de Deus”.
Major Alberto andou de lado a outro, um longo tempo. Ocultaria a carta a d. Amélia.
Sentou para escrever às filhas, mandá-las romper com a tia, falar-lhes da morte de Mariinha, enviar uma palavra de consolo a Marialva. Apenas rabiscou o nome da cega. Ergueu-se sem sossego para desabafar, surdamente, à janela.
— Vontade de Deus, vontade de Deus... Mas me comeu o [259] dinheirinho todo!
E ao escutar o riso de Amélia, fez um gesto de maior impaciência:
— Agora é essa aí... Começou.
Como para esquecer Marialva e a irmã ou por delícia de reviver, pôs-se a lembrar quando apanhou Amélia em Muaná, como se tivesse apanhado uma fruta do chão. Via-lhe o rosto a seu lado na montaria sem tolda, subindo o Arari. Barnabé, do Araquiçaua remava. A maré, sob o rumor monótono do remo, enchia, com o cheiro do lodo e do mangue, cheiro das velhas cobras mães de rio quando dormem. Mas era também o cheiro da mulher que viajava, do desconhecido que havia nela, pois, preta, silenciosa e cheia como o rio, ia sentindo no ventre os primeiros movimentos do filho. Nas margens, sob o gemido das aves noturnas e das ciganas que acordavam, grasnando nas pontas do mangal e das aningas, pululava uma povoação densa de bichos, um e outro cão latia porta das vagas palhoças entre açaizais ou mangueiras. Ele apalpou-lhe, de leve, o ventre e olhou para o rio com um indefinido temor. A noite era como um ninho de cobra, água voraz, boto, quem sabia? Acompanhando o cheiro daquela gravidez, caveiras de índios se arrastando na enchente. No fundo do rio, movia-se a lama que não era terra nem água, que ele uma vez pisara numa distante alagação, como se pisasse em vermes, em cobras coleando.
Barnabé, sem camisa e com a sua catinga, fedia a tabaco e a peixe. Levantava o remo por um momento. Ouvia-se a montaria cortando a água. O negro voltava a remar com o mesmo compasso como se contasse as remadas, como se tocasse tambor. A carapinha se cobria do pó que a noite soprava das estrelas.
Amélia deitava a cabeça nos sacos de roupa e Major tinha os olhos abertos, velando pela solidão e o sono da mulher em que o filho se gerava.
E agora, no chalé, ela ria, falando alto que ia buscar o filho.
Major ensaiou um gesto de entrar na varanda e ordenar-lhe que não saísse. Se quisesse resistir, Leônidas o ajudaria a amarrá-la no quarto.
[260] Voltou à mesa onde a carta da irmã lhe parecia rir também, com todo o seu descaramento. Olhou-se na vidraça partida da estante: mal via o rosto, apenas a sombra de suas atribulações.
Que farei? Resmungou. Mandá-la embora? Via o chalé abandonado, revendo ao mesmo tempo os anos melhores ao lado de Amélia. Antes dela, tinha sido a casa incendiada, em Muaná, porque defendia os escravos, depois os desenganos da República, a derrota de sua candidatura naquele município, a luta por um emprego em Belém, a viuvez, mortes, a cega, o dom da pobreza que o tornava incapaz de desonestidade, a série de projetos desfeitos no ramerrão, a trezentos e sessenta mil-réis da Secretaria Municipal. Afinal não podia corrigir os acontecimentos, pensou. Nem determinar a que ponto seria possível ainda arrepender-se...
Arrumou os fascículos de Santa Rita de Cássia, recém-chegados pelo Correio. Essa devoção era talvez mais uma variante de sua devoção aos catálogos, do que uma grande fé. Ao conversar nos dias de paz com d. Amélia sobre Rita de Cássia, preferia falar sobre as qualidades humanas da santa. Por exemplo, castigava os filhos como qualquer mãe. Curioso era o destino da santa no casamento, pensava agora. Seu marido, que a espancava, vivia nas tabernas.
Também ele não sabia, refletiu, como deter aquela marcha de escândalos ou evitar a próxima expulsão de Amélia do chalé. Sairia, se ele a mandasse embora? Não acreditava.
Guardou a carta e os fascículos na estante, deu corda no relógio como se desse corda também à sua paciência e foi novamente à janela. Com as mãos espalmadas no peitoril, o ar de quem assoma a tribuna, contemplou o rio como se contemplasse o outro rio, o de sua vida, distante e obscuro, descendo do seu passado. Baixavam as águas do Arari que, se encolhendo, dava a impressão de que os campos de ambas as margens se fundiam. Ao voltar-se viu, pela porta da saleta, o Leônidas no corredor, bebendo água. Fez sinal de que queria lhe falar. O rapaz acenou que esperasse e entrou na cozinha onde já se encontrava d. Amélia.
Depois daquela noite, Major não dirigira uma só palavra a ela ouvindo-a apenas dizer da porta do corredor para o resto da casa: [261] sua ceroula está aí em cima da mala; mude a camisa e ponha a outra no monte da roupa suja; está na mesa (era o almoço); o café esfria, deixe o dinheiro ou o vale pra carne. Uma manhã, vendo que ele não acertava, como sempre, a fazer o nó da gravatinha (não achara a de elástico, os ratos a tinham levado), atou o laço, silenciosamente, sem trocarem uma palavra, sem se fitarem. Quando Major não deixava o dinheiro em cima do Dicionário Prático Ilustrado, mandava Sebastião à Intendência com um dos seus bilhetes. Embaixo da assinatura pedia duzentos réis para o charuto, um cruzado para o vinagre e o sal.
Leônidas veio com a bandeja do café.
— Oh, é o nosso moca? Disse Major fingindo bom humor, levantando a perna nua sobre o banco, coçando-a, devagarinho.
Apanhou a xícara, derramou o café no pires, bebendo-o com ruidosos goles e falou baixo:
— Veja se Amélia fica sossegada. Se faz ela se acomodar, psiu... Ela, nesse estado, não pode sair. Senão tenho que tomar uma qualquer providencia. Estou até aqui.
E passou a mão no gogó, repondo ao mesmo tempo a xícara na bandeja.
— Talvez você, com jeito, ouviu? possa evitai que ela se perca por esses campos. O pior, psiu, é que conheço, e você conhece também, os irmãos dela. São seis.
E Major ergueu seis dedos que tremiam de leve.
Seis. Nenhum deles herdou isso cio pai. Nenhum deles. Havia de ser ela. Psiu. Ela só.
Repetiu, “ela, ela só”, com um acento que comoveu o sobrinho. Pela primeira vez, o velho lhe falara naquilo. Viu-lhe a camisa rasgada ao peito, a mancha do café nas pontas do bigode cor de zinco, os olhos plácidos. Sob aquela placidez, sentia-lhe o desgosto entre resignado e indulgente, e concluiu, com cínica malícia, que o “tio gostava um bocado daquela preta”.
Entretanto, começou a falar a d. Amélia na cozinha, para convencê-la de que ficasse. Falava-lhe com algum a compaixão e interesse — como era simpática aquela negra, como havia sido tão [262] boa dona de casa! — suportando-lhe o bafo da cachaça, as incoerências sobre a viagem a Marinatambalo, concordando por fim que ela deveria dizer, não restava dúvida, poucas e boas a Lucíola. Interrompeu-a para dizer-lhe que havia recebido uma carta da noiva. Perguntou se queria ouvir alguns trechos.
— Não. Não quero saber teus segredos. Não é digno de um homem estar mostrando as cartas da noiva a todo mundo.
— E tu és todo mundo, Amélia?
Ela sorriu, semicerrando os olhos, deu de ombros. Intimamente gostou daquela pergunta de Leônidas e pediu para ele ler o que quisesse.
Leônidas contou fatos novos e repetiu os velhos a respeito do noivado; a carta falava do trabalho em veludo que Izaura bordava; mostrou-lhe uma fotografia: Izaura com uma criança no parque Batista Campos. O que ia dizendo era, sem quase o sentir, mais objeto de confissão do que mesmo tática para fazê-la esquecer a viagem. Ouvira o pedido do velho. Leônidas se hospedaria talvez por muito tempo no chalé, pretendia “parar”, em Cachoeira, com o seu ofício errante de alfaiate. Também, com a saudade da noiva, compreendia os desgostos que lhe dava. Dela eram os desgostos do coração e dele os do ofício. E com pena do velho, de Amélia, da noiva, do menino, de Mariinha, tomou-se de paciência para convencer d. Amélia a ficar em casa, sossegada.
Afinal de contas, aquela mulher era uma preta, concordou, mas não conhecia branca melhor. A respeito dele mesmo, todas as vezes que vinha a Cachoeira, era a mesma, sempre amiga. A qualquer hora da noite, para fazê-lo ir a um baile, gomava a capricho o seu fato branco. Ela ouvia-lhe as confidências sobre namoro, negócios, a procura de trabalho pelas vilas do interior e os conselhos dela valiam muito. Depois, na última estada no chalé, ela lhe dissera, com áspera franqueza e razão, o que pensava a respeito do comportamento dele com a Inocência e com a Natércia, a filha do barbeiro Vitorino.
Amélia, com a cabeça oscilante, muito aceso o branco dos olhos, exagerava agora o seu interesse pelo noivado. Por que não casavam? Estava ficando crônico o noivado. Não pensassem [263] melhorar de vida porque acabariam tropicando de velhos e nunca se casariam. E o pai adotivo dela, um desembargador, nada faria por ele? Será que consentia mesmo no casamento? Ou ele, Leônidas, queria casar, de fato, com a moça?
— Também emprego para alfaiate ele não encontra na política. Se tu fosses bacharel era num instante um lugar de promotor. E olha, outra daquela, tu não encontra. Isto eu sei. Nasceu pra mártir. Tu, tu, hein? Es um Coimbra. Esse seu Alberto, tu pensa, um bom safado. E a tua tia, que tua tia tinha na cabeça pra levar a coitada da Marialva se consultar com, diz que, sábio, de passagem por Belém? Que caridade foi essa que fez seu Alberto vender o gado? Tirou até a vaca do colégio do meu filho. Tua tia quer sustentar grandeza em Belém, que não pode. Aposto que meteu o pau no dinheiro todo e a ceguinha vem na mesma. Cinco contos. Mais. Tudo na bolsa da senhora dona. E eu que fiz o negócio. Vocês, Coimbras, são iguais. Tu, por exemplo. Está no sangue de vocês andar enganando as pobres. Esse teu noivado... Quantos anos?
— Amor não conta tempo, Amélia.
D. Amélia, mudando subitamente de assunto, disse que mandara o Raul pintar a cruz de Mariinha. Teria de cobrir de flores a sepultura da filha e de Eutanázio. Derramou-se em elogios a este, erguendo-se do mocho para dirigir-se à janela e apontar em direção dos fundos da casa de seu Cristóvão na ponta do casario sobre os campos.
— Aquela casa matou o rapaz. Matou. Foi ali que ele encontrou a morte.
Tinha o olhar fixo nos campos, as mãos suspensas para fora da janela. Os horizontes sopravam um ar quente e caiu um redemoinho que envolveu o chalé e se acabou pelo telhado. D. Amélia se voltou para Leônidas com um sorriso frouxo e se lastimou com voz mudada:
— Meu primeiro filho afogou-se. Minha filha agora. E Alfredo, que será dele?
Voltou ao mocho e sentou-se de pernas abertas, a cabeça entre as mãos.
[264] — Estou com medo, Leônidas. Medo das febres. Me lembro que minha filha, pouco antes, dizia: “Estou com medo. Medo, mamãe”. Perdi a coragem, Leônidas. Eu tinha tanta confiança em mim, de que salvava minha filha. Disseram lá na Maternidade, em Belém, que eu não criava ela. Criei. Quando estava criada, veio a febre. Preciso ver meu filho. Tenho medo, Leônidas. Tenho medo até desses redemoinhos pro meu filho. Eles também trazem a febre.
E olhando para Leônidas, com os olhos meio injetados, exclamou:
— Hei de ser a primeira mãe do mundo para Alfredo. Se não tirar ele daqui, me atiro no poço. Ah, ninguém mais do que eu, Leônidas.
Depois, com o mesmo sorriso frouxo, murmurando um “tenho medo, tenho medo”, relanceou o olhar em torno, à procura do charuto para os dentes e declarou:
— E a única coisa que eu peço a seu Alberto, é isto. Um charuto. E olha como estão meus dentes.
Uns dentes perfeitos, observou Leônidas, com alguma inveja e repetindo um ditado que ouvira no sul: bons dentes, bom caráter. Ela os exibiu com infantil vaidade, para rir e pedir a Leônidas que lhe desse de presente uma caixa de charutos. Pegou a mão dele e se encaminhou pelo corredor, murmurando:
— Vem pra cá, Leônidas. Vem pra varanda. Deixa o calor passar que nós vamos. Vou primeiro armar uma rede pra me embalar. Tu em que cavalo tu vai? Aquele manco da guarda? Eu tenho inda que pedir emprestado o do dr. Adalberto. Um manso... Quero agora tirar este calor. E este medo, Leônidas. Seu Alberto não acredita que eu ando doente, que estou sofrendo de uma dor de cabeça terrível. Meus rins doem muito. Não queria que minha filha sofresse dos rins, nem Alfredo. Tenho que tomar novamente banho. Ganhei um papel de cheiro, mas tão cheiroso, Leônidas... Depois te dou um pouco pra tua roupa e pra tua noiva pensar que foram as ruas mulatas. Minha filhinha gostava muito. Tinha as vezes um jeito de mulherzinha, ela. Faceira, não sei de quem herdava a faceirice. Do pai, por certo. Eu pus no caixão dela um papel de cheiro. Ninguém viu. Bem debaixo do corpinho dela. [265] Só eu e minha filha sabemos disso.
Armou a rede e embalou-se, em tão largos embalos, que foi preciso Leônidas segurar os punhos da rede, dizendo:
— Assim tu cais, Amélia. Tu te bates. Te embala devagar. Pra isso não tens medo?
— Este calor, rapaz. Por que tu não trazes a noiva para beber leite em Marajó? Aqui tu podias te casar com ela. Seria bem baratinho. Tu queres é matar a moça de tantos aborrecimentos e ciúmes. Vocês, homens, gostam que as pobres infelizes se matem de ciúme. Tu, tu, lá queres casar. Esse noivado criou caraca. Empedrou.
Parou de embalar, perguntando baixo se major Alberto estava dormindo ou caducando em cima dos catálogos. Riu alto e por fim pôs as mãos sobre os lábios como para abafar um soluço. Levantou-se da rede para tentar vomitar à janela. Quis deitar-se no soalho. Indagou a si mesma, aereamente: estou grávida? Lembrou-se de procurar os brinquedos de Mariinha, foi ao quarto, espiou embaixo das mesas de tipos, atrás das malas e do armário na despensa. Abriu o oratório, pisou num catálogo que atirou janela fora e trouxe a boneca de pano da filha.
— Que tu achas dela, Leônidas? Não sei por onde andam as bruxas de minha filha. Foram atrás dela, por certo. Ora, aposto que foram as pequenas lá de baixo que já levaram. Olha, Leônidas, ela cantava assim para fazer a boneca dormir.
Sentada na rede, imitou Mariinha, cantando e aconchegando a boneca.
— Não. Agora sou eu mesma. A avó que vai fazer dormir a netinha. Pensa? Vou fazer a vontade de mea filha. Vou mandar batizar. Tu vais ser o padrinho. Será meu compadre Leônidas. Tu e a tua noiva. Vamos, mea netinha. Vamos, coitadinha. Um padre não batizava? Batizava? Na pia? Coitadinha, perdeu a mãezinha dela, vamos dormir. Não quero cantar o murucututu do telhado porque mete mais medo do que outra coisa. Vou me lembrar das modinhas que eu aprendia com a Mariquinha Gonzaga. Que fim levou a Mariquinha Gonzaga, Leônidas? Está em Muaná? Teve aquele filho, foi atrás do Laércio, aquele bom do [266] Laércio, atrás de um... Sumiu da vila um tempo. Apareceu coberta de cada mancha, de cada ferida, meu mano! Vou cantar pra mea netinha, Ouviu? Durma, está me ouvindo? Onde estão as tuas companheiras bruxas? Quem roubou? Ou andam procurando a mãe por aí por esses campos? Ó Inocência, ó cabocla sem-vergonha, vai chamar as bruxas! Vem da tua casa e traz a mamadeira para esta neta tão calada! Chora. Por que tu não chora? Tua mãe quando era pequenina sabia abrir a boca, sabia chorar. Anda, Inocência. Leônidas, vai desencavar por onde andam as bruxas de mea filha.
Principiou a cantar alto. “Uma noite eu me lembro ela dormia...” E logo se calou com o dedo nos lábios para Leônidas, dando-lhe a entender que a boneca adormecera.
Major Alberto, de pé, na saleta, sem ser visto por ela, fazia sinais a Leônidas, que estava sentado no banco da mesa de jantar.
D. Amélia, ainda com o dedo sobre os lábios, deitou-se cuidadosamente com a boneca junto ao peito e ficou se embalando.
Em meio a um tropel de cavaleiros lá fora, outro redemoinho rodou pela frente do chalé.
Aos poucos foi d. Amélia adormecendo.
Após combinarem a visita ao mondongo, Edmundo e Lucíola conversaram sobre a doença da avó, o viveiro de fantasmas que d. Marciana criava. Para agradar a hóspede, o rapaz passou a falar de Alfredo, sem convicção, quase sem sinceridade, porque invejava, de fato, o menino. Queria dele aquela virgindade de sentimentos, aquela malcriação, a sede de saber e de conquistar o mundo.
Lucíola não sabia estar atenta a conversação. Pessoas e coisas desaparecidas falavam pela boca daquele homem. Vinham nas palavras a que ela não prestava atenção. Surgia a velha, Edgar Meneses, a esposa deste, o próprio acontecimento da fuga de Alfredo, pessoas, coisas e fatos que lhe pareciam sem existência lógica, criações suas, existentes apenas nos seus antigos sonhos e desejos que lhe voltavam como recordações.
Edmundo calou-se, taciturno. Lucíola olhou para ele, como se o tivesse ofendido. Não se atreveu a dizer uma palavra. Ele [267] cerrou os olhos, apoiando a cabeça loura na parede cheia de fuligem, também como se recordasse.
A moça via-se na fazenda como num espelho. A morte da mãe, a morte do montepio, o suicídio do irmão com aquela mania de “ter dinheiro e ter sífilis”, o desentendimento com Dadá, talvez pelo fato de andarem envelhecendo tão depressa e tão solitárias, o louco intento de agarrar-se àquele menino indomável, tudo isso se refletia em Marinatambalo, na fisionomia daquele homem que tinha os olhos cerrados. Que homem! Era uma figura dos velhos retratos, alta e macerada, faltava apenas a barba dos antigos. E longo tempo ficaram os dois ali, silenciosos.
Alfredo, que passara o dia, ora constrangido, ora com raiva porque Lucíola não partia, ora temeroso de voltar ao chalé para encontrar a mesma situação daquela noite, começou a andar entre as mangueiras, cheio de indagações. Tudo agora lhe parecia sem esperança e nada valia mais a pena fazer? Tudo gorava, como aquela moça e aquele rapaz que gastou anos e anos de estudos para coisa nenhuma? Com o seu desalento, percorreu a área das mangueiras, dominada por uma indagação mais sombria diante do que se acabava, do que já foi, da existência daqueles entes. Seus próprios filhos nasciam já velhos. Queria seguir para o mundo, ver a vida lá fora e apenas lhe sucediam mortes, a venda do gado, a viagem a Marinatambalo, nem mesmo o consolo de que Marialva ficaria boa. Só o passado era feliz? Só os adultos de agora tiveram a possibilidade de ver coisas, conseguir muito do que queriam? Por que os que vinham de Belém falavam sempre mal de tudo, que até os brinquedos não valiam mais nada?
Seu pai falava sempre no “bom tempo” que deixara apenas restos de coisas e pessoas. Em vez de Clara para segui-lo e agradá-lo, era Lucíola. E em vez de Mariinha correndo no campo, para colher pixunas e murucis ou brincar com Andreza no meio das patativas, era aquela velha, numa velha e fúnebre carruagem.
Ninguém, de fato, gostava dos tempos presentes e para estes nasciam ele e outros meninos. Que fizeram as pessoas grandes para deixar apenas isso como herança? Por que faltava cada vez mais dinheiro para comprar simples coisas, pagar um colégio, [268] encomendar um relógio novo para o pai? Ia o mundo sempre para trás? Por que não se reconstruía o que havia desabado, por que não mandavam instalar novamente luz elétrica nâ vila, por que seu pai não mais podia ver em Belém as companhias teatrais?
E Alfredo indagava, confusamente: de hoje em diante seria a vida aquela acumulação de caruncho, de traça e de poeira, destroços e pessoas velhas? Os velhos se lastimavam pelo que acabou. Os novos pelo que não vinha. Para os adultos, o tempo presente era o castigo da maior pobreza, enjôo de tudo, briga de uns com outros, ruínas, luto, ausência de cor e de novidade. Para os meninos, tudo eram trevas, mau agouro, a eterna ameaça de Deus, a censura, a expulsão do paraíso. Tudo não passava mesmo do sempre e sempre “vale de lágrimas” que ouvia das ladainhas? Dantes, sua mãe não era boa?
Repentinamente, se lembrou de uma observação feita sobre os catálogos do pai. Neles vira fábricas, nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, com os dizeres: nossas fábricas em 1873. Adiante: “Nossas fábricas em 1912”. As primeiras fábricas não passavam de magras oficinas, sobradinhos com uma chaminé. As últimas eram a bem dizer cidades, de tão grandes. Que acontecia lá para que as fábricas crescessem? Lá, pobre, gasto, difícil, seria só o passado? Como explicar?
Por isso mesmo, como “ser alguma coisa”, ter a mãe a seu lado fiando redes no chalé num mundo que, ao contrário daquele dos catálogos, andava para trás? Sua imaginação não bastava para apresentar-lhe as linhas precisas do caminho a descobrir. Era uma difusa ambição que começava da simples partida para o colégio, até fazer-se um daqueles deuses do livro da mitologia e carregar o chalé nas costas e colocá-lo numa das muitas ruas de Belém.
Atirou fora o caroço, desta vez, vencido, coçou a cabeça, caminhou pelo bosque. Por que, por que aquele homem foi aprender para nada, foi ser doutor para estar ali? Ou o saber não era mais o mesmo de antigamente?
E quando viu Edmundo e Lucíola, juntos, encostados na mangueira como se esta os sustentassem em pé, veio a última pergunta, a conclusão de todas as suas indagações do dia:
— Por que esses dois não se casam?
A lua lhe apareceu com a cabeça que o fio do horizonte tivesse cortado de alguma sereia e se erguia na bandeja de chumbo de uma grande nuvem. Tornou-se uma lua disforme, primitiva, feroz, bruxa escorrendo sangue e cólera, devoradora de crianças. Sombras esguias e colunas de orvalho moviam-se nos campos claros. Abriam-se furnas na mata, onde, como uma onça, a noite se recolhia.
Era preciso atravessá-la para ganhar as campinas do outro lado e começou a correr, gritando para espantar o medo e apressar a marcha, de vez em quando olhava a lua que o perseguia com a sua raiva de degolada.
Os gritos de Alfredo derramavam-se pelos bosques, ecoando e assustando os pássaros que gritavam em pânico ou batiam abafadamente as asas pelas ramagens altas.
Desembocou na campina e tomou fôlego. Mas isto num instante, porque o menino começou a tremer de maior medo e espanto, ao ouvir um grito ecoando nos longes.
Um novo grito mais próximo o fez rodear o bosque e tomar um caminho que serpenteava ao luar, numa direção desconhecida. Outros gritos sucederam-se e percebeu que chamavam pelo eu nome. Parou, a escutar, a mão no peito, arquejando.
Era um “Alfredo! Alfredo!”, como um apelo de socorro. [223] Seria sua mãe? Viva ou morta? Tentou rezar, prometer não sabia o que, tornar-se humilde, boníssimo para os moleques da vizinhança, agarrar-se aos pés da Virgem, arrastar-se nos tijolos da igreja, decorando o catecismo inteiro.
Culpado e perdido, pensou voltar para a casa, certo, porem, de que não acertaria mais o caminho.
O luar ofuscava-o, oprimia-o. Os capões do mato erguiam-se com as suas cavernas, cercando-o. Andou instintivamente para diante, numa vaga idéia de que estavam próximos os campos largos. Ou Marinatambalo?
Os gritos desapareceram. Um sapo — o mesmo que vira antes de olhar aceso? — pulou na touça adiante, inchando de escuridão e magia. Para não provocá-lo, Alfredo deteve-se e olhou para trás. Quis gritar, não pôde, as mãos tremendo sobre a boca. Surgindo do bosque, um vulto de branco corria no seu rumo, sob o luar, em que se evaporava, para emergir adiante numa levitação. No meio da campina, gritou.
Alfredo não reconheceu a voz e fugiu, rompendo um cipoal, ganhando novo descampado, com o nome de Nossa Senhora na boca, pedaços de oração contra os perigos, nome de sua mãe, correndo entre muitos troncos partidos no meio dos quais se erguia, negro, negro do fogo que o queimara, um tucumãzeiro morto.
Não pôde mais, as pernas dobravam. Um frio intenso. Os pés como chagas. Tombou no caminho. O tucumãzeiro cresceu-lhe à frente e principiou a rodar, enorme de encontro à lua, esqueleto de carvão, com seus espinhos em fogo. O sapo, como se fosse causador de tudo, fugia no silêncio.
Depois, curvada sobre o menino, a mão sobre o seu rosto frio estava Lucíola.
Com a cabeça do menino no colo, Lucíola inclinou-se sobre ele para cobrir-lhe o peito com os seus cabelos soltos. Alisando-lhe o rosto que lhe pareceu angélico ao luar, pôs-se a refletir numa melhor maneira de retirá-lo dali. Carregá-lo, não podia. Alfredo crescera, pesava muito para as suas forças. Também, com quase 11 anos!
[224] A esta reflexão — uma exclamação que ficou em si mesma, doendo-lhe — seguiu-se um muxoxo de censura, ao tempo que depressa andava e ao próprio Alfredo que, tomando consciência de seu crescimento, se mostrava cada vez mais arredio e mais mal-agradecido.
Reconheceu, no muro da mata defronte, o bosque de Marinatambalo, com os bacurizeiros altos e a sumaumeira à entrada. Ali perto, havia um pavilhão, o pavilhão de caça. Levá-lo até lá não seria muito difícil. Ergueu o rosto de Alfredo para a lua que ia alta e beijou-o, com os olhos em lágrimas.
— Que menino este! Parece que só nesta noite cresceu um palmo. Foi o que padeceu, coitadinho. Amanhã, de que tamanho será... Grande. Como os outros.
Um sentimento de lástima, vergonha e mesmo de revolta envenenou-lhe aquele impulso de ternura. Amanhã será também como os outros. Não haverá mais nada de extraordinário nele depois que atingir os 16 anos. Perderá essas feições, essa inocência, esse sono, homem como os demais.
Julgou-se desumana ao estar refletindo naquelas coisas quando o menino precisava de amparo. Não tinha culpa de haver nascido homem.
Por outro lado, sentia-se alegre, quase feliz, porque se achava naquela hora, na completa posse do menino que tanto quis que fosse seu, a bem dizer criado por ela — neste ponto exagerava — é que d. Amélia tudo fizera para arrebatar-lhe das mãos. Por isto, já não o via tão crescido e sim feito aquela criança a quem ninara com tanto dengo e tanta presunção maternal. Esse passado distanciara-se muito, apesar dos curtos anos que separaram Alfredo das papinhas de Maisena, do cueiro bordado, do trem de carretéis, das senhas do bonde trazidos de Belém, das denguices choronas dele agarrado às saias dela e de d. Rosália. E agora estava ele em seu colo, fugindo daquele chalé.
Da janela de casa ouvira o barulho, ao qual acompanhou com crescente satisfação vingativa, torcendo para que tudo aquilo tivesse um fim vantajoso para ela, dando-lhe oportunidade de apossar-se de Alfredo. Desejou com impaciência que major Alberto fosse [225] homem capaz de reduzir ao silêncio aquela negra. Logo, porém, rir-se nervosamente dele, sabendo-o incapaz de um gesto definitivo contra aquela “rapariga”, fosse para mandá-la embora, tapando-lhe a boca, ou apertar-lhe o pescoço até...
Morta Amélia, preso o Major, o filho seria dela. Viu Alfredo entrar e sair do chalé. Nem tempo teve para apanhar um agasalho, tirar do fundo da mala grande a velha mantilha da mãe...
Quis envolver-lhe o tronco com os cabelos, desistiu para ver se o acordava. Era preciso fazê-lo andar.
Seu coração batia agoniadamente. Se d. Amélia aparecesse? Quem sabe se Alfredo não veio atraído por uma alma, um encanto, uma força contra a qual ela não teria poderes para lutar? Mas era preciso dominar o medo e tentou acordá-lo.
Estava sem forças. Voltou, por isto, a censurar-se a si mesma, com azedume — sem forças para carregá-lo. Seria completo o seu triunfo se pudesse levá-lo nos braços, repousá-lo no pavilhão, deixá-lo dormir as horas que entendesse, longe do mundo.
Murmurou um “meu filho”, timidamente e lutou contra a convicção, que logo a assaltou, de que se ele acordasse, daria um grito de susto, repelindo-a. Oh, meu Deus, não sei o que fazer, queixou-se ela. Não sei o que fazer. Não posso deixá-lo aqui nem ficar com ele neste sereno. Ele pode resfriar-se, pode apanhar uma tosse de mau caráter, uma pneumonia, Deus do céu. Também não posso carregá-lo. Como me sinto cansada, por cima de tudo isto. Eu podia ter ainda forças para levá-lo. Quando mais precisa de mim é que lhe falto. São as consumições de casa, aquelas doenças, os anos de espera, os irmãos, a própria d. Amélia... Também tenho medo de acordá-lo, pode assustar-se e...
Ele reagiria talvez com violência, continuou mentalmente, com uma violência como nunca fizera antes. Acreditou, no entanto, que o menino viera do chalé tão revoltado e desvalido que receberia bem ou pelo menos sem resistência aquela surpresa.
— Vamos, meu filho, se levante.
Com o auxílio dela, Alfredo ergueu-se como um sonâmbulo. Ela o amparou e o conduziu, como quem guiava um hipnotizado, vagarosamente, cheia de medo e precaução extrema até o velho pavilhão no meio do bosque.
[226] Principiou a amanhecer, Alfredo continuava a dormir no colo dela. Não havia ocupado o pavilhão porque o encontraram com os restos do teto vergados pelas trepadeiras selvagens, a madeira das paredes esfarelando-se do caruncho e cupim. Do soalho de madeira branca e acapu restavam algumas tábuas a um canto, onde poderiam morar cobras e aranhas venenosas. Os dois ficaram fora, num acamado de folhas secas, junto a uma velha laje rachada.
Lucíola lembrava-se do pavilhão azul e branco, coberto de telha francesa, de outrora. Na parede do fundo, via-se a estampa de Diana, a caçadora. Suspensos, pelo teto, peles, cabeças de onça, armas, troféus de caça espalhados também pelo chão.
Um bando de periquitos invadiu ruidosamente o bosque, avisando a claridade do amanhecer. O sereno cobria os horizontes, ensopando as folhagens e o chão. Lucíola repousou a cabeça do menino num travesseiro de folhas e suspirou, cansada e preocupada. Não dormira a noite inteira, surpresa ainda com aquela circunstancia feliz e ao mesmo tempo inquietante. Descansaria andando entre as árvores, no ar úmido do amanhecer. Acariciou o menino no seu longo sono, sorrindo para ele, como se o tivesse dado à luz naquela hora. Passou a examinar as imediações do pavilhão. Sacudiu a cabeça e murmurou com lástima que era também de si mesma:
— Quem te viu e quem te vê... Quem viu o que foi isto, meu
Um cheiro de frutas podres, no ar adocicado, indicava a entrada do pomar. Restavam naquele abandono laranjeiras, goiabeiras, abacateiros e biribá. No meio, jaziam ainda os velhos troncos onde as visitantes gravavam lembranças. Onde estariam as inscrições feitas no bosque? Que fim levaram aquelas palavras que ela escrevera num velho tronco, na manhã da caça? Nem mais um vestígio, nem nunca ninguém saberia o significado delas. Apenas seu coração as soube guardar.
O bosque alargava-se com as samaumeiras monumentais e a plantação das seringueiras já altas. Cerravam-se os caminhos e os cipós densos pendiam das árvores restituídas ao matagal. Lucíola parou sob a recordação mais viva de Marinatambalo. O bosque [227] era como um parque de cidade. Latadas de jasmineiros ao centro envolviam a área onde ficavam os balanços e o. coreto. Junto a uma latada, dr. Meneses mandara colocar uma estatueta de mar-more que simbolizava a Prosperidade, dizia ele. No pavilhão embandeirado, reluziam armas e todos os apetrechos para a caça. E por tudo isto, voando e gritando, uma grande arara azul que pousava nos ombros do fazendeiro, na cabeça da estátua, como uma ave propiciatória.
Em setembro de 1910, recordou Lucíola, dr. Meneses resolvera festejar, na fazenda, o regresso das duas filhas que estudavam na Inglaterra. Para pasmo de toda Cachoeira, Lucíola e irmã foram convidadas. Por que seria? Os Meneses, como ninguém, selecionavam as suas festas mandando vir a maioria dos convidados da capital. D. Rosália, que imediatamente entrara a preparar as “meninas”, falava no seu velho conhecimento com o dr. Meneses, nas suas “relações da cidade”. Empenhou todo o montepio do mês no enxoval, a fim de que “as meninas” não fossem fazer figura à-toa no meio de tantas pessoas finas de Belém.
Quebrara a pucarina, nova-nova, com os atropelos da última hora. Dadá, esta chorando de impaciência e raiva, d. Doduca, talvez de propósito, atrasara-se com o vestido. Tinha que desmanchar a cintura que apertava. Finalmente partiram numa lancha e em Tarumã, porto da fazenda no Arari, longas horas esperaram condução por terra para a festa. Seguiram numa carroça de bois e essa viagem sacudida e lenta pelos campos foi uma agonia, de tão demorada. Quando atravessaram o bosque e avistaram os pavilhões da fazenda, Dadá escondeu o rosto sob o guarda-sol que abrira. Lucíola, esta, não soube nem como pegar na mão que um moço desconhecido lhe estendia, risonhamente, para ajudá-la a descer da carroça diante do alpendre de Marinatambalo.
Lucíola, então, conheceu de perto o dr. Meneses. Pareceu-lhe um inglês que passara uma vez pelo Arari catando cacos de barro. Tinha uma alegre vermelhidão no rosto, o chapéu colonial, as altas botas de caçador. Seria mesmo o homem cruel de que falavam? Teriam aquelas mãos amarrado vaqueiros no tronco de espinhos, deixado em carne viva os caboclos moídos de muxinga?
[228] Preocupava-se com o menor incidente que pudesse molestar os convidados, a falar de vez em quando com os estrangeiros ruidosos e loiros e sempre na língua deles. Ele inventara aquela caçada no bosque e no balcedo onde havia jacaré. “Uma caça à fantasia”, pilheriava, no meio dos cavaleiros que aprontavam as mochilas, comiam pão e exibiam as armas como adornos. As moças vestiam roupa de homem, observava Lucíola, um pouco constrangida nas suas roupas municipais. Lenços na cabeça, chapéu à moda rústica, até mesmo alguns pés nus na balança da sela, mas o ar sempre da cidade. Quase todas escarranchadas nos cavalos diante do pavilhão, num festivo e ao mesmo tempo distinto impudor, tinham para com Lucíola uma condescendência, uma afabilidade que ela recebia com vago ressentimento, timidez e desconfiança.
Tratava-se de caçar pacas e capivaras numa ilha cerrada próxima ao bosque onde havia também porco-do-mato. Depois era a matança de jacarés. Lucíola preferiu montar de banda ao contrário de Dadá e as raríssimas convidadas de Cachoeira, que tudo faziam por imitar as moças da cidade. Manteve-se naquilo que julgava o seu recato menos sincero que forçado, um pouco atordoada com a correria numerosa dos cães, a jovialidade dos estrangeiros, a afoiteza das moças, o galope dos caçadores, gritando por simples animação ao som da buzina que o dr. Meneses soprava para causar maior divertimento no meio da comitiva, O rapaz risonho que a ajudou a descer do carro dos bois não escondeu o seu espanto ao vê-la montada como uma freira...
— Pois a senhora, uma marajoara...
Lucíola não respondeu, sorrindo, quase ofendida. Ele falava de Marajó como de uma terra unicamente de índios, de mulheres brutas escanchadas nos cavalos em pêlo. Era marajoara, sim, mas não vaqueiro, poderia ter dito a ele. O rapaz sorria para ela que segurou as rédeas com uma decisão brusca e deu um curto galope, O animal era muito manso — para moças. Gostaria então de exibir-se para aquele homem, montada num alvação brabo, marajoara inteiramente. Como isso lhe era impossível, procurava modos de moça que nunca esteve habituada ao campo, a vaqueiragens, olhando de revés para o rapaz. E ouvia a buzina do dr. Meneses [229] como um chamado para ela e para onde? Um cavaleiro de chapéu e gravata gritou que o fazendeiro era... (Lucíola queria lembrar), mas não sabia mais o nome, (“Te lembra, Lucíola”). Mas escutou depois o nome “valter escote” que se confundia com livros, histórias, castelos, a Inglaterra, a caçada. Já em Cachoeira perguntou ao Salu se conhecia algum livro com esse nome que mal sabia pronunciar, quanto mais escrever. No entanto, esses fragmentos de conversas, nomes estrangeiros, castelos, ficaram na memória de Lucíola como carvões mal-apagados sob a cinza.
No meio da comitiva e do alarido da caça que lhe lembrava um acompanhamento de cavaleiros em procissão de Nossa Senhora, Lucíola experimentou uma sensação de riqueza e de alta sociedade, como se fosse filha de fazendeiro, parenta dos Meneses, nunca Lucíola Saraiva. A fúria dos cães, os gritos dos homens, o tropel dos galopes, a fuga dos bichos, a descarga das armas davam-lhe uma súbita e áspera exaltação de vida em meio a um singular pressentimento de que ali se despedia de seus melhores tempos de moça.
Tão exaltada ficou que perdeu o recato, escanchou-se no animal e galopou sem rumo, distanciando-se, já em pleno meio-dia, ao fim da caçada, no puro prazer do galope e da iminência de um perigo. Depois de atravessar uma “ilha” e desembocar numa campina, olhou para trás e viu um cavaleiro a persegui-la. Deteve-se, ofegante e envergonhada, exagerando a sua surpresa e a perseguição. O cavaleiro aproximava-se, o cavalo castanho cresceu sobre ela com as suas crinas, a cabeça fabulosa, a sela luzindo e o homem diante dela, dominando o animal que relinchava. Era o mesmo rapaz risonho, agora vermelho e molhado de suor. Defrontaram-se em silêncio, naquela hora muito quente, do meio-dia. Vinha de longe o ruído dos caçadores. Ela esperou um gesto, uma palavra, um movimento, uma ousadia dele na exaltação, na fadiga e no abandono em que se achava. Temeu um desfalecimento e agarrou-se às rédeas, ao pescoço do animal com receio de cair. O cavaleiro, que se afastara um pouco, olhava distraído a campina solitária. Longe, ouviam-se confusamente os cães e a buzina. O rapaz, então, ensaiou um chouto de volta. Regressaram no mesmo galope, ela decepcionada e feliz, sem saber o que sentia, [230] admirando o respeito e a distinção com que aquele homem a tratava e despeitada também por isso. Confusa, viu-se repelida ou talvez lisonjeada, sem nenhum encanto para um homem ou capaz de ter inspirado um sentimento mais profundo àquele rapaz da cidade, de nome que nem sabia. Acelerou o galope para que todos seus sentimentos se dispersassem e a deixassem chegar ao pavilhão, sozinha e sem chamar a atenção de ninguém.
Lucíola agora acreditava que o desfecho daquela festa, a última realizada pelos Meneses, viera anunciar o fim da fazenda. Não esquece: eram onze da noite, dançavam na casa grande quando gritos no bosque e uma agitação no pátio fizeram parar a música e todo o mundo desceu atropeladamente seguindo os brados de Edgar Meneses em direção do arvoredo. Debatendo-se entre os braços dos amigos, Edgar Meneses gritava, apontando para diante:
— Quero que todos vejam. Que todos vejam primeiro, antes que eu...
A massa dos cavaleiros e damas avançou na sombra e logo atônita, já de olhos no chão, retrocedeu à luz do carbureto que se projetara sobre um tamarindeiro alto.
— Aí está... Vejam. Tal como peguei agora, agora, com o vaqueiro, o Julião, um vaqueiro, agora no tabocal...
Aturdida, Lucíola viu uma mulher, nua e amarrada ao tronco, retorcer-se dentre as cordas e enfrentar, num segundo, a luz e todos aqueles homens e mulheres que recuavam sem fitá-la. Era d. Adélia que, horas antes, dançava com o marido, o Edgar Meneses, muito bonita, sorrindo, a face meio oculta no leque entreaberto. No curto olhar e na imobilidade em que ficou, arquejando, o seu silêncio de terror e de instintiva revolta revelava uma selvagem e triunfante repulsa pelo marido que se debatia ainda nas mãos dos amigos para investir sobre ela. Quando o levaram, a luz do carbureto apagou-se como também as luzes do salão da casa grande. Lucíola, numa vertigem, foi-se arrastando no meio de toda aquela gente que se retirava às pressas e uma solidão caiu no bosque, tão funda e escura que os longos soluços da mulher já seriam também pela próxima desgraça dos Meneses.
D. Adélia ficou no tronco até a madrugada quando o [231] cunhado a soltou, atirando sobre a sua nudez uma baeta vermelha e mandando-a montar no cavalo que a levou ao Arari. O vaqueiro semanas depois apareceu morto num lago, meio comido pelos jacarés.
Lucíola, excitada com aquelas recordações, voltou para o pavilhão sentindo-se velha para sempre, vendo a manhã derramar-se, silenciosamente, sem uma asa, pelo bosque onde as folhas continuamente caíam.
Alfredo dormia ainda.
Ao contemplá-lo, de longe, via nele a restituição de seus felizes temores, descontentamento e decepções, quando participou da caçada, do imenso almoço diante do boi inteiro assado na grande fogueira e durante a primeira noite do baile, pois foi na segunda que aconteceu o episódio de d. Adélia.
Ficou no meio do caminho, úmida do orvalho, uma ou outra folha caindo nos seus cabelos, indecisa e alheia de si mesma, olhando o menino como a um recém-nascido.
Alfredo acordou com uma cara de susto, os olhos muito grandes para o fundo já iluminado do bosque de onde surgia aquela mulher de branco, alta, de cabelos enrolados. Não era um espectro, mas Lucíola. Não reagiu com a surpresa, o susto passava, sentia-se amolecido e distante dos acontecimentos da noite. Como poderia ela vê-lo acordado, resolveu disfarçar que continuava a dormir. Teve certa satisfação de se mostrar digno das preocupações de Lucíola sem, contudo, deixar de ficar ressentido com aquela nova intromissão dela em sua vida. Sabia, com certeza, o que sucedeu no chalé. De repente, se lembrou de perguntar-lhe por sua mãe. Estaria viva? Estaria? Por que perdera o medo, nem continuava desesperado pelo que poderia ter acontecido no chalé?
Fingiu que dormia e quis também fingir um grande desespero pela morte de sua mãe para humilhar e agoniar Lucíola. Esta sobressaltou-se ao vê-lo naquele fundo sono. Tocou-lhe no queixo e murmurou:
— Meu filho, se acorde. Está tarde. Se levante, sim?
[232] Era como se aquela cena lhe fosse habitual, todos os dias, na hora de despertá-lo. Lucíola chamava-o, esforçando-se para ser a mais simples e a mais natural possível. Mas o temor crescia e uma nova onda de emoções perturbou-a. Como suas mãos tremiam!
Ele soltou um gemido, teve vontade de rir, caçoar dela, dizer-lhe que fosse embora, sumisse. Que o diabo ou o lobisomem a levasse. Sabia que estava ali, ridícula, a cara macerada, a testa larga, um traço meio roxo na boca, o nariz de defunto. Lembrou-se dos seios. Permaneceu naquela inércia até que um desejo mais forte de saber como passava sua mãe e o que aconteceu, depois, no chalé, fê-lo levantar-se bruscamente e interpelar Lucíola, como se quisesse acusá-la:
— E mamãe?
Lucíola tentou responder, como uma culpada, como se ele compreendesse que ela uma vez pensara matá-la. O olhar do menino penetrava-a.
— Quero saber o que se passou com mamãe. E a senhora, que é que faz por aqui? Por que ao menos não foi lá saber? E quem lhe mandou aqui, por que anda me espiando?
Logo compreendeu que aquela voz da noite era a dela que o acudira e o levara para ali e isso aumentou o seu despeito e a sua raiva porque, diante de seus olhos, Lucíola diminuía sua mãe, tinha um triunfo sobre esta.
Pôs-se a soluçar baixinho, entre sincero e por cálculo, no seu abatimento e na sua revolta. Lucíola, perplexa, sem saber o que falar, pousou a mão no ombro dele:
— Meu filho, sossegue. D. Amélia está bem. Esta viva.
Lucíola, no íntimo, indagava: quem sabe? Estaria viva mesmo? E a verdadeira mãe não estava ali, com ele, amparando-o?
— D. Amélia não está doente. Vai tudo muito bem lá.
Alfredo tinha o rosto descido sobre o peito.
— D. Amélia está bem.
— A senhora não sabe. Não sabe de coisa alguma. A senhora não se meta.
— Sei, meu filho. Você não pediu que lhe desse notícia? Tudo aquilo de ontem já passou.
— Aquilo o quê? Que foi que a senhora viu? Quem lhe [233] perguntou? Por que a senhora não vai embora e não me deixa so. Tenho pernas. Sei o que vou fazer. Me deixe, me deixe...
Alfredo calou-se, fatigado. Lucíola esperou com uma grave, pungente paciência a que se ligavam os restos da tão excitante recordação de 1910. Se tivesse sido ele o filho daquele instante inesperado na campina, se tudo houvesse mudado por causa daquele galope insensato? Não pôde encarar o menino que a fitava com uma expressão de raiva, nojo, tristeza e dor, como assim entendia ela.
Fácil foi a Alfredo saber que sua mãe estava viva e os ressentimentos da véspera subiram-lhe como lama revolvida. Ficou de pé, com as mãos no rosto, encabulado, deixando enfim que ela lhe abotoasse a blusa, ouvindo-a dizer que teriam de chegar à casa da fazenda para pedir um café.
— Você, meu filho, está frio-frio. Tem que tomar alguma coisa.
— E onde estamos? Perguntou ele, de testa franzida.
— Em Marinatambalo, meu filho. Depois eu lhe mostro a fazenda. Você não conhecia ainda. Mas já lhe falei muitas vezes dela, lembra-se? Não falei? Pois você foi um homenzinho, andou tanto que veio parar aqui. Olhe ali o pavilhão de caça. Depois lhe conto a história desse pavilhão. Vamos ver se a gente arruma um café, vamos? Ah, vai se admirar de tanta coisa aqui, do que isto foi e o que agora é. E não está sentindo um cheiro de fruta, não?
Com que animação falava agora, doida para agradá-lo, excitar-lhe a curiosidade e agradar-se a si mesma também, voltando a galopar no campo entre as buzinas e os caçadores de 1910.
Nisto, um rumor de carruagem.
Não fosse já dia tão claro e Lucíola acreditava numa aparição. Suspensa, muda, a cabeça cheia de suposições confusas e absurdas, agarrou-se ao menino que a olhava também perplexo, gelado de espanto.
Não havia dúvida. Era uma carruagem se aproximando, no clarão da manhã que invadia o bosque. Lucíola reconheceu a caleche do dr. Meneses, a mania da velha mãe deste, d. Elisa.
[234] Espanto maior para ela foi saber que a caleche ainda existia. Existir, era o termo. Para Lucíola, principalmente naquela madrugada no bosque, as coisas e os seres passavam a ter uma existência idêntica, fundidos na mesma substância, animados pelo mesmo sangue e pelas mesmas vozes. Na realidade viviam, não mais em Marinatambalo, mas em seu espírito, em sua solidão mesquinha que tentava engrandecer com a presença de Alfredo. A caleche existia ainda. Dentro, uma velha, seria ainda d. Elisa? E guiando, um moço, a cabeça do moço se cobria de ouro na luz da manhã.
Talvez sua memória andasse exagerando tudo, refletiu, vendo a caleche avançar, lenta. Suas recordações deformavam aquela realidade a tal ponto que não podia distinguir uma simples carruagem, mandada vir por um capricho de fazendeiro, daquelas carruagens dos romances do Salu, vistas nas velhas revistas, contempladas em Belém. As coisas e os seres em Marinatambalo não deixariam de estar mortos. Pelo menos parados. Pelo menos, com rodas nem molas.
No entanto, a caleche rodava, aproximando-se dela com o ruído de uma carroça, desconjuntada, como se carregasse todo o peso daquelas ruínas. Os animais a conduziam, com tamanha dificuldade, pareciam fantásticos, feitos do orvalho que enevoara o bosque. Estavam velhos, quebrados por um torpor e ao mesmo tempo pela consciência de um castigo, atrelados àquela coisa ruidosa e desmantelada. Um chicote estalou-lhes no lombo, mas não apressaram o andar, chicotada súbita e cruel que Lucíola sentiu em seu rosto. Onde, como, como, lembrara-se, quando menina havia recebido em plena face uma correada de sua mãe?
Apertou em seus braços o menino. Este estava quase certo de que era aparição. Nunca tinha visto uma carruagem senão nos catálogos do pai. Mas para ele, carros daquele tipo serviriam apenas para conduzir enterros, surgiam dos cemitérios, andavam rodando nas histórias de fantasmas. Entretanto seu medo diminuía, sentia-se em segurança naquele sol e ao lado de uma pessoa viva, embora fosse Lucíola.
A caleche parou defronte de Lucíola. Dentro, a senhora de [235] luto ergueu a cabeça branca, a mão enluvada. Segurava um lorgnon, o rosto espessamente empoado. Na boléia, o rapaz alto que se preocupava em abotoar o peito da blusa.
— E a d. Elisa, minha Nossa Senhora! Ainda vive? Murmurou Lucíola.
— Que veio fazer aqui? Gritou, numa voz rachada, a velha senhora, assestando o lorgnon. O rapaz ergueu a cabeça de cabelos alourados, a face pálida, o olhar apagado, a boca semi-aberta. Lucíola surpreendeu-se com ele. Tinha uma bela cabeça. Sua palidez, seu silêncio, sua atitude quase humilde como que atenuavam os impropérios da velha empoada e arrogante. Alfredo mal entendia o que ela falava e Lucíola escutava as grosseiras palavras, com os olhos fitos no rapaz que a olhava agora com um desdém próximo da compaixão, assim percebia a moça.
— Que veio fazer aqui? Veio tomar a fazenda também? Veio com o dr. Lustosa, com a ordem da execução? Veio aproveitar-se de nossa ruína? Mas isto não é ruína. Este meu neto saberá mostrar que não. Ele levantará a estátua do meu filho, dr. Meneses, no centro do bosque, novamente. Estão roubando de todos os lados. Essa ralé de Cachoeira está se aproveitando! E a senhora, por certo, veio a mandado das raparigas ou das mulheres casadas de Cachoeira rondar meu neto?
Deu uma risada e continuou:
— E quem são vocês para casarem com Edmundo? Não levarão ele. Vejo que a senhora não tem outro papel. Beleza não tem. senhora passou do melhor tempo. Meu neto é moço, Edmundo é belo. A senhora trouxe a incumbência de enfeitiçá-lo? Entrou na fazenda sem nossa licença. Afinal não soltaram os cães esta noite? Entrou como uma bruxa. E esse menino aí? Fale, fale! Está com medo? Mando prender a senhora como ladra do pomar. Estão roubando tudo. Tudo!
Edmundo fazia sinais a Lucíola para que não se incomodasse. A velha parou para respirar um pouco e sentiu-se sufocada. Agarrou-se ao neto que lhe murmurou algumas palavras não entendidas por Lucíola. Alfredo parecia divertido.
— Vó, disse, enfim, o rapaz numa voz branda, ela não veio para isso.
[236] — Pra isso, o quê? A sua falta de inteligência, Edmundo... Meu neto, para que você estudou na Inglaterra? Sua cabeça não funciona.
Alfredo soltou um riso rápido e seu olhar zombava. Edmundo sorriu, mas pálido, socorrendo a velha que tentava erguer-se com os braços estendidos para o pavilhão da caça:
— Ah, os tempos do meu filho, dr. Meneses. dr. Meneses! A que levou a inveja, a que levou a traição!
O neto deixou-a ficar de pé a brandir o chicote, o lorgnon pendente no peito. Declamava como uma velha atriz de dramalhão, com aquele luto, os gestos longos, envolvendo o bosque. Deu um grito, os cavalos assustaram-se como se despertassem e a caleche avançou num salto. A velha tombou e ficou de cabeça suspensa para fora da carruagem. Os cavalos pararam como se adormecessem novamente. O rapaz retirou a velha e a deitou no chão forrado por uma baeta que trazia. Lucíola acudiu. A senhora estava como que adormecida.
Isso durou alguns minutos. O rapaz soltou os cavalos e abandonou a caleche. Lucíola viu-a, então, como a desejaria ver, parada, traste inútil, andando apenas em suas recordações daquelas festas de 1910. Alfredo pôs-se a examiná-la, a olhar as rodas. Era uma coisa realmente fúnebre, fedia a defunto, a pano podre, a morcego. E pouca diferença achava, refletiu divertido, entre a caleche e a velha que continuava inerte no chão.
— Vó, vamos.
A velha ergueu a cabeça, quis falar e ficou arquejando. Logo passou a espumar, a debater-se, a gemer grosso como num estertor. Alfredo correu cheio de medo e de fascinada curiosidade: estaria morrendo? Ouvia-lhe o ronco, via-lhe a espuma na boca, o peito enorme na iminência de explodir.
O rapaz ergueu-a nos braços e em passos rápidos foi caminhando entre as árvores. Atrás iam Lucíola e Alfredo. Ao entrar ria clareira diante da casa grande e dos pavilhões, o rapaz sentiu-se cansado e despejou-a novamente no chão. Lucíola ajoelhou-se para desapertar-lhe o casaco de veludo negro. Edmundo sorriu, enxugando o suor.
— O sr. poderia buscar uma pessoa mais. Eu fico aqui vigiando.
[237] — Isto passa. Por ora, não há ninguém na casa. Passa.
Falava de pé, em pleno sol, tão pálido, que Alfredo cuidou que se derreteria como cera.
Lucíola pôs-se a contemplar os restos daquela fortuna morta. Os três chalés que constituíam a casa grande seguidos dos quatro pavilhões haviam perdido a pintura próspera, azul e branca, de 1910 e das suas paredes de madeira as tábuas caíam soltas ou podres. Somente o primeiro chalé era habitável com aquela varanda grande que serviu de salão para o baile e onde agora dormia a mãe do extinto fazendeiro.
No segundo pavilhão, atulhado de vidros, Lucíola recordou os doces de bacuri em calda que o dr. Meneses mandava fabricar na fazenda. Ganhara com eles medalha de prata numa exposição nos Estados Unidos. Embaixo do pavilhão, amontoavam-se ferro velho, varais, latas de tinta, canos, tachos sem fundo, a estatueta, azulejos, rolos de arame, selins desfeitos em lixo.
Subiram ao último pavilhão. Ela empurrou a porta apenas encostada e entrou em companhia do menino. A um canto, viam-se embrulhos de roupa velha, enfeites antigos, um chapéu colonial amassado, a armação de fogo de artifício que seria queimado na noite em que d. Adélia surgiu amarrada ao tronco.
Lucíola viu também os seus dias mais felizes atirados ali sob aquele lixo. Revirando com o pé o monte de pano sujo deu com farrapos de fantasia de carnaval, sapatos, flores de papel, garrafas vazias de champanha, tubos de lança-perfume, copos quebrados, leques rotos e entre eles estaria, por certo, aquele em que se escondia o rosto de d. Adélia. Adiante viu cordões de miçangas, rolos de cabelo postiço, um fraque e um espartilho negro.
Um espartilho negro. Lucíola quer fixar a memória nos espartilhos que vira no quarto das moças. Um espartilho negro. Alfredo fitou-a com algum espanto.
— Mamãe tinha um desses. Mas não era preto.
Lucíola não respondeu, sorrindo, com o espartilho na mão, [238] soprando o pó e vivamente ferida pela lembrança do menino que lhe falava da mãe. Para que falar em sua mãe naquele instante? Sua mãe. “Eu, sim, que tinha muitos espartilhos”.
Alfredo agachou-se para apanhar as varetas de um leque.
Foi quando uns passos lentos fizeram Lucíola voltar-se, para a porta, com o espartilho negro estendido no braço, Alfredo achou estúrdia a atitude dela, de encabulada, sem ter coragem de fitar o rapaz que sorria e apontava para o espartilho, querendo dizer qualquer coisa, lembrar-se também, fazer uma pilhéria. Por fim:
— Não sei de quem era. Talvez da mulher do meu tio Edgar. Afinal os donos desses restos e destroços são todos defuntos, pelo menos fora do tempo. Um espartilho assim serve para apertar esqueletos ou fantasmas.
Lucíola largou o espartilho no chão, batendo as mãos na saia, desculpou-se:
— Entrei por curiosidade... Não sabia...
— Não importa. Encontrei também isso quando aqui cheguei. Já tinha vindo alguma vez à fazenda?
Lucíola primeiro olhou para Alfredo que se afastara e baixo falou:
— Não. Nunca vim aqui. Não conhecia. Era uma fazenda bonita?...
— Era. Talvez. Não conheci a fazenda do tempo do meu pai. Estive sempre ausente. Encontro agora esse fantasma de fazenda.
— Por que não trata de levantar ela de novo? Indagou Lucíola irrefletidamente, logo certa de que fazia uma indiscrição.
— O esteio caiu. Caindo o esteio, não há nada que levante. Foi apenas isto que me deixaram. E aquela avó.
Lucíola havia tempos não travava conversação com rapazes e principalmente com um homem daqueles, educado e para ela muito estranho. Sentia-lhe desgosto, azedume, nas palavras, qualquer coisa que a impedia de julgá-lo com a má-fé com que há muito vinha julgando os homens, os adultos, em suma.
Desceram em silêncio. Lucíola viu, coberto pelos parasitos, o gasômetro abandonado. O poço revestido de mato e sem o [239] cata-vento. Que fim levaram as ovelhas, os porcos vermelhos, as galinhas americanas, o lago com os gansos, a arara Rosa, o viveiro das cobras?
Ficaram sentados na varanda diante da velha adormecida, A espera que a vigia da casa, d. Marciana, aparecesse. Saíra muito cedo para o campo em busca de lenha seca. Edmundo, na cadeira de embalo, não conversava, a pentear-se de vez em quando. Uma vez levantou-se para acender o cachimbo.
Lucíola, nas suas cismas e recordações, quis um momento comparar alguns traços do cavaleiro da caça com os daquele moço, tentou reviver cenas do baile, recordar o lugar em que ficava no salão etc. etc. Ela dançara pouco, quase nada com o rapaz que uma e outra palavra lhe dissera durante a dança.
Alfredo queria café. Edmundo cachimbava como um velho. Lucíola caiu numa prostração e cochilou. Alfredo levantou-se e foi caminhar entre as mangueiras, pensando fugir.
Algum tempo se passou.
Alfredo, levado por d. Marciana que voltara com o seu feixe de lenha, tomou o café na cozinha. Era uma cabocla alta, de braços fortes, falando descansado.
— E a moça? VA chamar ela pra tomar café. Chame que aquela gente não se lembra disso. A velha, na certa, está falando com visagens. O neto nem como coisa... Como vai sua mãe, hein? Aquela tua mãe era uma morena bem bonita, fique sabendo... Ainda é?
Alfredo saiu correndo da cozinha para chamar Lucíola que dormia.
— Meu Deus, que horror, eu dormi. Você tomou o café? Me desculpe, meu filho. Como foi... que sono.
Alfredo, atrás dela, com uma pergunta nos lábios, pensava agora no chalé, sabendo que naquela hora, todos o procuravam. Sua mãe, aflita, teria remorso, prometeria curar-se. Andreza e Mariinha... Aqui Alfredo deixou que todo o golpe da lembrança de Mariinha morta lhe doesse infinitamente. E exasperado, [239] gritou para Lucíola que se dirigia para a cozinha:
— E quando vamos? A senhora fica ou vai?
— Vamos? Para onde?
— Para casa, ora esta. Quero ver mamãe.
Lucíola voltou-se para ele a modo de assustada. Nem havia pensado nisso. Estava tão longe da idéia do regresso e de entregar o menino aos pais, que nem sabia responder ao menino. Estou endoidecendo com esta idéia de criá-lo, de que devo ser sua mãe.
Ajoelhou-se diante dele fingindo consertar-lhe a blusa e disse:
— Vamos, sim. Mas primeiro precisa conhecer a fazenda. Para você levar uma lembrança muito grande de tudo isto aqui. Você nunca se esquecerá. Ainda não sabe o que aconteceu com o dr. Meneses. Isto aqui foi maravilhoso, meu filho.
Levou-o para a cozinha, deu-lhe frutas, procuraram as asas do cata-vento na capoeira, d. Marciana contou casos.
O menino distraiu-se, silencioso, procurou um caroço de tucumã e logo restaurou a fazenda que passou a ser de propriedade do pai, a mãe curada, ele em Belém. Estaria grande, Andreza grande, o cata-vento voltaria a ranger ao pé do poço. Seu pai teria um observatório astronômico. Aqui por certo as estrelas estariam mais visíveis. O cometa voltaria e passaria em torno dos pavilhões, rabeando por cima das fruteiras, e os bichos, a gente, o gado de cabeça virada para o cometa, o olhar abismado.
Quando o viu jogando o caroço no ar, Lucíola achou pela primeira vez muito engraçada aquela invenção do menino. Ajudava-a a ficar longe de Cachoeira e perto do “seu filho”.
Deixou-o mergulhado no seu faz-de-conta. E à sombra da mangueira, defronte do pavilhão dos doces, adormeceu.
Não durou muito o sono em que surgiu o espartilho negro no ar e um leque brilhando em torno do cavalo castanho. Acordou com Edmundo chamando-a para o almoço e perguntando pelo menino.
Lucíola correu pelo arvoredo, foi ao pomar, andou pelos campos em companhia de Edmundo. Por fim o encontraram voltando de um bambual.
— Meu filho...
[241] — Se a senhora não me levar, eu volto só. Volto só.
E ocultou com raiva o despeito de não ter descoberto o caminho de volta, reconhecendo-se muito menino ainda, demais menino, para desembaraçar-se das dificuldades, fugir como um homem que tivesse feito uma misteriosa viagem e regressasse sem ajuda nem companhia de ninguém.
Antes de subir à varanda, Edmundo voltou-se para Lucíola numa reverencia entre embaraçada e cheia de lástima:
— D. Lucíola, a senhora vai desculpar. Sei que é um procedimento inqualificável. Minha avó anda muito excitada, abalada mesmo, como viu de manhãzinha, no bosque. Eu tenho imenso prazer que a senhora e o menino estejam aqui conosco. Mas nem sei como dizer, de tão desagradável... Vovó está passando uma fase difícil. Desgosto, impressionada... Precisa de repouso que aqui não encontrará. Isso não permite que a senhora e o menino almocem conosco na sala de jantar... Seria...
— Ah, mas não se preocupe, dr. Edmundo. Não se incomode tanto assim. Nós até íamos embora. O senhor está vendo como Alfredo quer voltar o mais cedo possível. Nós vamos...
— Mas justamente o que não desejo é que a senhora regresse tão cedo. Peço que perdoe vovó e me façam a gentileza de fazer a refeição na pequena sala. Este incidente não vai absolutamente perturbar o meu desejo de ser hospitaleiro, nem permito que fiquem constrangidos, pois constrangido estou eu, com semelhantes caprichos de minha pobre avó.
— Mas não precisa se preocupar. Nós vamos almoçar na cozinha.
Alfredo, de início, pasmou diante da cortesia do rapaz, admirando-lhe os gestos, o trato, a auréola de colégio, estudos e viagens que o envolvia. Achou depois aquilo cômico e sem lógica. E maior foi o seu vexame ao ouvir a resposta de Lucíola que tentava ser “educada” também. Seria assim quando voltasse do colégio, cheio de palavras estudadas: “muito agradecido”, “mil graças”, “sinto-me constrangido”? Mas sentia-se de fato, humilhado [242] ante a resignação de Lucíola ao aceitar ridiculamente, como um favor, o almoço na cozinha. Por que não respondia com franqueza, não mandava ao diabo o almoço, a velha e as amabilidades?
Com esses pensamentos, tinha perdido o fio da conversa entre os dois e voltou a prestar atenção àquela troca de delicadezas.
— Então almoçarão noutro aposento que d. Marciana preparou.
— Mas, dr., eu já lhe disse que vamos para a cozinha. Não somos de cerimônia, dr. Edmundo. Ficaremos constrangidos se não consentir que a gente fique na cozinha. Não é, Alfredinho?
O menino deu de ombros, intimamente, revoltando-se com aquela humildade de Lucíola e com o cuidado dela em dizer “nós, nós”, como se ele concordasse com aquilo e fosse seu filho.
— Eu quero que a senhora tire a má impressão desta manhã. Fique alguns dias mais. Ajudamos assim a acalmar a velha. Olhe, depois que a senhora me contou os acontecimentos da noite passada...
Alfredo, a estas palavras, não se contendo, beliscou fortemente o braço de Lucíola, gritando, colérico:
— Que a senhora contou? Que a senhora disse? Quem lhe pediu pra dizer?
— Meu filho...
— Não me chame, não me chame de filho... Não sou seu filho! A senhora não é nada pra mim. Tenho mãe. Ouviu?
Sentou-se no chão, apertando a cabeça entre as mãos, resmungando que iria sozinho, fosse como fosse.
— Mas, meu filho... Alfredo... eu disse que você tinha um grande desejo de ver esta fazenda. Me escute. Não me olhe assim com essa raiva. Veio sem ter avisado o major Alberto. Foi so isso...
— Se eu tivesse de avisar era minha mãe. A senhora está mentindo.
— Não, Alfredo. D. Lucíola não está mentindo. Ela...
— E eu andava passeando de noite e por coincidência vim bater na fazenda a seu lado. Foi isto o que contei.
— Exatamente, meu amigo, exatamente.
— Foi isso, Alfredo, não se zangue. Então você acha que eu ia mentir?
[243] — Mentiu, sim. A senhora está mentindo. Eu nunca tive vontade de ver isto aqui. Esta porcaria. Mentira dela. Que é que tem aqui para mim ver? Lixo, essa velha, esse caco velho com roda... Estão me enganando. Ela não passa de uma intrometida. Veio atrás de mim como uma visagem. Por que não foi fazer visagem lá no cemitério?
Edmundo dobrou-se sobre o menino com uma delicadeza que encantou Lucíola. Serenou-o e disse:
— D. Lucíola não disse nada de mais senão o que ela repetiu agora. Você queria vir, não era? Isto me foi uma honra, uma alegria. Tinha vontade de ver, pensava que isto aqui fosse uma maravilha, um assombro e afinal veio ver uma velha, eu, d. Marciana e restos de fazenda. Para você, um menino, foi realmente um mal ter vindo. Nada encontrou daquilo que sonhava. Também eu como menino, até mesmo como moço, tive vontades doidas de ver o Reino do Marinatambalo. Este reino... Nunca me deixaram vir. Não queriam que os mosquitos me ferrassem e fiquei sempre longe daqui. Deram-me Marinatambalo depois que ele deixou de ser um reino. Quanto às notícias de seus pais em Cachoeira, digo-lhe — olhe que não estou mentindo — que mandei avisá-los. Avisei que você estava em segurança e dando-me o prazer de sua visita. Foi o Gomes que passou por aqui e levou o recado. O Antero, o morador do retiro vizinho, trouxe notícias de que tudo vai bem em Cachoeira. Ele teve necessidade de ir à Intendência e viu lá o major Alberto. Se houvesse alguma coisa de anormal...
Alfredo acalmava-se e ao mesmo tempo voltou a achar incoerente, absurda a explicação do rapaz. Naquele momento não discernia bem entre sonho e o desencanto de Marinatambalo, apenas achava, embora sem nitidez, em todas as palavras, em todos os gestos, em todos os rostos daqueles adultos, desgosto, ruína e fingimento. E a isso comparou o riso de sua mãe nos bons tempos, a simplicidade de seu pai descalço imprimindo rótulos, as travessuras de Mariinha.
Edmundo, por fim, concluiu:
— Minha avó acha que o que arruinou meu pai foi também deixar que “todo mundo” entrasse e comesse na fazenda, nos [244] últimos anos. Pensa que com os modos dela de receber os hóspedes e tratar as pessoas, que julga não pertencer à sua categoria, poderá restaurar a fazenda. E acredita que estou levantando a fazenda. Peço paciência com ela.
Aquela grave amabilidade confundia Lucíola. A princípio acreditou que fosse ardil para não permitir que sentasse a sua mesa, utilizando-se do nome da velha. Sondava hipocrisia naquela polidez triste. Depois foi achando até mesmo extravagante aquela linguagem. Tais palavras não ouvia da boca dos homens de Cachoeira e sim de personagens dos romances do Salu. Aquela delicadeza, tão escassa durante a sua vida inteira, perturbou-a a ponto de esquecer as ofensas de Alfredo. No fundo, achou melhor que a velha houvesse tido semelhante extravagância para que ele fosse tão amável como foi, mesmo ao mandá-los almoçar na cozinha. Mas em toda a sua perturbação boiava alguma desconfiança. Nunca se abandonara inteiramente às lisonjas de um homem. Era claro que as de Edmundo não eram lisonjas de galanteador, mas delicadezas naturais de homem instruído. Descobria nele, por fim, certa frieza, certa intenção, logo um desejo de se confessar e culpar a família por tudo aquilo. Isso não a impedia de supor que ele estivesse se divertindo à sua custa ou, quem sabe, se não era tão louco como a avó?
De qualquer maneira, pela primeira vez, depois de tantos anos, era tratada com tamanha consideração. Talvez isso impressionasse o menino, tornando-o menos ingrato e menos rude. As palavras do dr. Edmundo, concluiu melancolicamente, talvez não passassem de compaixão para aliviá-la das ofensas de Alfredo.
Edmundo levou-os à cozinha — pois não houve nada que convencesse Lucíola a almoçar na pequena sala. Alfredo sentia-se um pouco aliviado por saber notícia do chalé, também por causa dessa sempre deliciosa e tão rara novidade que era comer em casa alheia.
D. Marciana os recebeu alegremente, até mesmo lisonjeada com a resolução teimosa de Lucíola e começou a contar da longa consumição que era d. Elisa.
D. Elisa só enxergava fantasmas, mas só de dia. Naquela carruagem aos pedaços e aos trambolhões, examinava obras e [245] criação que não existiam, gritando com empregados invisíveis. Mandava fazer jantar para seis ou dez pessoas que só ela via. De repente, era um sono, sono esse tão comprido de meter susto. Acordava com o juízo perfeito, pegava o croché e ficava horas cantando baixinho, que era uma felicidade.
Na sala de jantar, com a mesa posta como para um almoço de cerimônia, Edmundo e a avó comiam em silencio. Já no fim, antes de repetir o assunto dos dias anteriores, a velha cochichou:
— Meu filho, você disse a ela com modos para almoçar na cozinha?
E o velho terna voltava:
— Eu fiquei a seu lado, meu filho. Eu quis mandar dizer tudo. Afinal se estivéssemos no Império, se a época de hoje fosse de homens de barbas como teu avô, nada disso sucederia. Teu pai morreria barão.
— Barão só, vovó?
— Barão.
A velha acentuou a palavra com um suspiro e um gesto imperial sobre a mesa.
Edmundo olhou para a avó com bonomia: o cabelo branco tão bem penteado, as rugas pintadas, o buço, a boca flácida. O que havia ainda de autentico e humano naquela ruína eram os brincos.
Humilhara Lucíola e sobretudo o menino. Poderia ao menos pretextar que a sua avó não queria almoçar e ele mesmo... Afinal, d. Marciana tinha uma língua e o pretexto seria destruído. O pior foi atirar abertamente a responsabilidade em cima da avó. De que valeram tantos anos de Inglaterra para acabar recusando aquela mulher e aquele garoto na sua mesa e enxotá-los para a cozinha? Tinha vivido entre gentleman e não soubera senão ser um bruto, nem discreto, nem resistir à fantasia daquela avó ridícula. Também se sentia na fazenda como um estranho, um intruso, às vésperas de enxotado.
Via em Alfredo um rude orgulho. Utilizava-se de Lucíola como de uma serva. No entanto, coitadinho, o mundo o devoraria na velha e vasta engrenagem que se chama a luta pela vida. 246] Aquele orgulho, aquela revolta, esperança, ambições, desejo de aventura, sede de ser um homem, tudo seria triturado, queimado e reduzido a cinza na fornalha do mundo. Depois, tão pobre, tão obscuro, tão em Cachoeira!
Entretanto, invejava o menino. Invejava-lhe naquela gulodice de viver. Alfredo nascera para não ter nada e ele para ter... Riu-se. Para ter Marinatambalo. Para ser um fazendeiro. Na idade de Alfredo, que fazia? Que lhe ficara enfim da infância? Um quarto para brincar, o tédio de tudo a seu alcance, nenhuma miragem, nenhuma coisa impossível, amas e mimos. Que fizera de sua infância? Onde estaria ela quando a de Alfredo, tão nua de brinquedo e de amas eriçadas de desejos, o desprezava e o agredia?
Mesmo ao comparar a sua vida com a de Lucíola e d. Marciana, com o próprio desvario da avó, tornava-se mais impotente e derrotado.
A velha rezou um terço, fez Edmundo benzer-se, pediu-lhe que a levasse ao quarto.
Edmundo voltou, com o andar pesado, o pensamento em Alfredo. Que energia nesse menino, exclamou. E a minha? Para onde foi? Nem me importa saber o que devo fazer e para onde devo ir. Mas coitado desse menino...
Ficou cachimbando.
Ao concluir na Inglaterra o seu curso de agronomia, um ano depois da morte do pai, Edmundo imediatamente preparou-se para o regresso. Dez anos de ausência tinham-lhe engrandecido a fazenda, enterrado em seu ser fundas raízes de Marinatambalo. Partira para a Inglaterra aos 14 anos, sem nunca ter passado as férias em Marajó e desde a adolescência viera sonhando esse regresso. Sua mãe lhe havia dado uma espécie de bolsa de estudos, provinda de uma herança de família, que o sustentaria durante todos os cursos, depositando todo o dinheiro em Londres à disposição do estudante. Edmundo sempre poupou essa bolsa que o livrava das mesadas e dos correspondentes. As visitas do pai à Inglaterra traziam-lhe a presença de Marajó. Admirava no velho a cândida rusticidade acentuada à medida que o pai se preocupava em parecer homem fino, o apego à terra, exagerando essa admiração pelo [247] juízo demasiado lisonjeiro que fazia do caráter do pai e das virtudes da vida rural. Quando alguns colegas lhe falavam em viagens de ilhas do Pacífico e do Índico, era com vaidade e tom de mistério que lhes descrevia Marajó.
— Quero voltar para ser um fazendeiro tipicamente marajoara. Isto aqui é uma ilha, sim, mas que leva os seus habitantes a desejarem ver terras, viajar. E vocês possuem um império. Na minha ilha, meu desejo é ficar. Tenho o umbigo enterrado lá.
Fascinava-o também a pesquisa dos “aterros” indígenas que sabia existirem em Marinatambalo. Descobriria ossadas, objetos de cerâmica, vestígios de civilizações, quem sabe se da Atlântida... Manteria, por isto, correspondência com sábios e museus.
— Conheci Marajó, a fazenda, até os meus três anos. Daí em diante, me tiraram de lá como se não quisessem que eu voltasse a ver aquela terra. Não lembro mais. Nunca voltei e sinto que tudo aquilo está no meu sangue. Guardo o que vi, sem hoje me lembrar, nesta “cuíra”, como dizia meu pai, que tenho aqui por dentro, uma “cuíra” que só pode sossegar quando eu me for.
Escrevia à família, já depois da morte do pai: o melhor tipo da fazenda para a Amazônia é Marinatambalo. Farei mínimas reformas. Quero a fazenda com essa cor marajoara e tudo farei para que fique mais primitiva, mais colonial e meio indígena. Nas suas conversações entre os colegas brasileiros e ingleses sobre o estilo de casas rurais, afirmava:
— Quanto às de Marinatambalo, conservarei isto.
E mostrava as fotografias dos pavilhões. Todo seu quarto estava cheio de recordações da ilha. Vasos indígenas, peles de onça e de sucuriju, bicos e penas de aves marajoaras. Remirava a fotografia do mondongo: perto pastavam búfalos, era-lhe como uma paisagem paradisíaca.
Quanto à exploração do trabalho, imitaria os métodos do colonizador inglês na Ásia e na África, acentuava com simplicidade. A grande diferença, pensava, entre a cidade inglesa e a fazenda marajoara era que, enquanto os operários da cidade se tornavam cada vez mais exigentes com salários tão altos, na fazenda os vaqueiros pareciam mais felizes na sua vida primitiva, exigindo cada vez [248] menos o pouco de que necessitavam. Acreditava na inferioridade das raças de cor, sobretudo dos mestiços, admitindo certos métodos de intimidação e de castigo no trabalho das fazendas. Mas essas idéias não o entusiasmavam, aceitava-as apenas como uma verdade elementar, um mal necessário à condição da vida colonial e talvez mesmo porque não gostasse de contrariar e examinar as opiniões dominantes. Estimava a tradição inglesa, o gentleman, o Partido Conservador, recusando discutir com alguém que pusesse em dúvida as razões dessa estima. Fugia às discussões, evitava aprofundar esta ou aquela incerteza, preferindo isolar-se dos acontecimentos do mundo para assistir ao turfe e ao futebol ou encerrar-se nos estudos com aquele objetivo de voltar e plantar-se em Marajó. E maior do que o pesar pela morte do pai, lhe foi, pois, a certeza de que o substituiria no domínio de Marinatambalo. Olhando o mapa do Brasil, Edmundo localizava na vasta ilha entre o Atlântico e o grande rio, aquele reino tão seu, de tão estranho nome. Era a ilha que se atravessava no meio da luta entre o Atlântico e o Amazonas para que os dois rivais fizessem as pazes, deixando-a estirar vagarosamente as suas terras. Mal nascendo nos charcos de Breves, madura nos tesos de Ponta de Pedras e no barranco de Joanes, desenhando os campos de Cachoeira, as dunas de Soure, inchada de mondongos, Marajó que lhe parecia de lodo e aninga, búfalos, cemitérios, indígenas e bandos de aves pernaltas dominando a encharcada paisagem. Longos instantes ficava diante do mapa, banhando-se misteriosamente naquele sol e pântanos, naquele sentimento de posse... Seu aquele selvagem território.
Deixou a Inglaterra como se voltasse para o paraíso. Os últimos contos de réis de sua bolsa deram ainda para pagar a viagem, além de roupas coloniais e armas de caça, sem necessitar de recorrer à família. Durante a viagem, que sentia tão demorada e da qual nem mandara aviso a Belém, só aquele domínio de pastagens e gado onde roncavam jacarés, jaziam, quem sabe? vestígios da Atlântida, parecia entretê-lo. Em uma ou outra reflexão, perguntava a si mesmo se aquilo não passava de mania, uma obsessão de ausente ou sensação passageira de quem retorna ao lar desconhecido, ao descobrimento de sua própria terra.
[249] Não, não se enganava, concluiu logo afastando a dúvida. Ia receber simplesmente a direção de uma fazenda e isto era um começo prático de vida. Afastaria de sua frente a política local, as viagens ao estrangeiro, ignoraria Belém e o Brasil. Caminhava, com todas as sedes de sua vocação, para uma realidade nada fascinante a um outro rapaz, sobretudo que fosse educado na Inglaterra. Sentia-se tranqüilamente decidido, porque a propriedade o chamava.
Em Belém foi a revelação daquilo que há quatro anos acontecera e que ele inteiramente ignorava. As irmãs, que se haviam casado, nada queriam saber de Marinatambalo em ruína e as vésperas de ser entregue aos credores. Os bons empregos dos maridos asseguravam-lhes o esquecimento da fazenda, O irmão, engenheiro, preparava as suas malas para São Paulo. O palacete em Batista Campos nas mãos do banco. Via-os assim resignados, indiferentes ao que acontecera, como se nunca tivessem sido proprietários. Essa passividade deles aumentou o seu furor e o seu desespero a tal ponto que os irmãos o julgaram enlouquecido.
Ao receber a carta do pai que, por determinação do morto, só lhe seria entregue quando regressasse, recusou abri-la. Repeliu a hospedagem das irmãs. Fechou-se num quarto de pensão, durante dois dias, soterrado naquele desabamento.
Por insistência da avó, que logo lhe pareceu louca, leu a carta, dias depois, e maior foi a revolta contra aquele sentimentalismo que revelava o caráter malogrado do pai, contra aquela cilada, ainda sem explicação para ele, em que desabou a fazenda. Afinal, exclamava, tudo fora causado pela falta de amor à propriedade. Repelindo as desculpas da fatalidade e os conselhos do pai na carta lastimosa, insistia em dizer sombriamente a si mesmo: por que me enganaram durante quatro anos? Com que fim me fizeram toda essa armadilha? Durante os últimos anos lhe escreviam mais do que nunca sobre Marinatambalo, estimulando-o, pondo-o a par da vida da fazenda, sem que escapasse um indício sequer sobre o desastre. Só por último, o irmão lhe aconselhou timidamente que ficasse na Inglaterra “porque, com certeza, já não se habituaria mais no Extremo Norte”. Quatro anos de mistificações, de mentiras, traído, escarnecido, sem nunca ter levantado a mais [250] leve hipótese de que Marinatambalo poderia correr risco! E, ao refletir assim, acusou também a sua imprevidência, a sua ingenuidade. Seu objetivo era mais uma idéia fixa do que uma determinação prática. E por isto o enganaram mais facilmente, de maneira tão sentimental quanto ridícula, como se todos estivessem, no fundo, decididos a fazer-lhe aquela farsa para o aniquilarem de um só golpe. Dissessem-lhe a verdade, pelo menos lhe comunicassem a inclusão do tal sócio nos negócios da família e teria largado os estudos ara salvar a fazenda. Fora tratado como caçula, ser à parte, jogado no nevoeiro inglês.
Agora diante dos fatos, que o afastavam irrevogavelmente da própria razão de sua vida, recusava todos os oferecimentos de emprego em companhias inglesas, um cargo federal, a volta à Inglaterra proposta pelo cônsul britânico, velho amigo do seu pai. Não condenava apenas a família, os poucos amigos desta, a sua ausência e o seu erro, mas toda aquela cidade provinciana que agora parecia rir dele, pretensiosa e vingada.
Contou as sobras da bolsa que trouxera, graças ao seu metódico espírito de poupança e maldisse a iniciativa da mãe que lhe cortara as ligações reais com Marinatambalo, com os negócios da família. Culpava-a também e essa nova culpa aumentava a sua ao ter ficado alheio, ignorante da verdadeira situação da fazenda. Sem despedir-se dos irmãos, embarcou para o Arari. Encontraria o tio Edgar; esse pelo menos não saíra de Marajó.
Chegou a Cachoeira numa tarde de trovoada, seguindo imediatamente para Marinatambalo. Lá pela madrugada, montado num cavalo manco que lhe cedera o sargento da guarda rural, a pesada bagagem atrás num velho boi cargueiro conduzido por dois caboclos a pé, surgiu ele na fazenda, encharcado, de polainas, barba grande, a espingarda à tiracolo. D. Marciana, no abrir a porta, alarmada com os gritos que vinham de fora, não pôde reprimir, ao vê-lo, a exclamação:
— Meu Deus, é mais um!
Na cozinha, ainda indecisa se deveria fazer o café, diante do fogão apagado, resmungava:
— Como se não bastasse o haver de fantasma que existe aqui, [251] me aparece mais este um. Homem no seu juízo nunca que pode vim parar aqui nisto e do jeito que vem. Esse menino morreu foi lá na Inglaterra e é a visagem dele que está aqui. Ninguém me tira isso da cabeça...
E foi ao surpreendê-la assim que, pela primeira vez, em todos aqueles dias atrozes, ele riu alto e longamente. Depois, em silêncio, já descalço, sem camisa e de calção, sentou-se no parapeito da janela que dava para o bosque e pôs-se a sacudir as compridas pernas penduradas, os ligeiros pés alvíssimos batendo com os rosados calcanhares na parede. E o seu busto cresceu, nu e branco, no quadro escuro da janela para o assombro da velha Marciana e dos caboclos.
Quatro búfalos mansos, algumas reses, seis cavalos velhos, um misterioso rebanho de búfalos bravios circulando à roda do vasto mondongo a léguas da sede da fazenda, uns nativos nos retiros e era tudo que restava além da casa grande e de seus pavilhões, o pomar e o bosque. Nunca uma propriedade se arruinara tão rapidamente, num abandono tão definitivo na ruidosa intimidade da velha Marciana com os fantasmas.
Edmundo não respondeu a nenhuma das cartas que os irmãos lhe escreveram, suplicando-lhe que regressasse. Recebeu pormenores do desastre, “já que, por falta de calma, não quis saber pessoalmente o que foi que aconteceu”. O pai, dr. Meneses, por fraqueza, amizade, coisa fácil nele, ou entusiasmo de ampliar os negócios, aceitara a participação daquele sócio bem falante, o Zacarias Barata, que vendia zebus de Minas no Pará.
Ao cabo de poucos meses, Zacarias mostrava grande capacidade de iniciativa e trabalho. Maior foi a confiança dos Meneses precisamente num período em que as moças andaram gastando muito, contraindo dívidas, reformando o palacete, viagens ao Rio etc. Voltando de Minas com uma partida de zebus, Zacarias consultou o dr. Meneses se poderia avalizar um empréstimo de seiscentos contos que pretendia fazer ao Banco do Brasil. O fazendeiro não vacilou. O sócio não perdeu tempo, fugiu.
Em suma, o Banco do Brasil, seis meses depois, avançou [252] sobre Marinatambalo para cobrar os seiscentos contos, O irmão de Edmundo, disposto a morrer ou a matar, vai ao encalço do fugitivo, Rio, Minas, Porto Alegre e não o encontra.
Os credores do dr. Meneses, as dívidas montavam a duzentos contos, alarmaram-se e tomaram também medidas contra o fazendeiro, que pediu uma concordata. O banco manda fazer execução judicial em Marinatambalo e aí Edgar Meneses e o irmão de Edmundo, acuados no bosque, recebem a diligencia a bala. O banco recua e ficou combinado que o pagamento seria feito com a venda do gado mantendo-se a hipoteca da fazenda. Em poucos meses escoa-se o grande rebanho de Marinatambalo. Dr. Meneses, prostrado, na cama de um hospital, cede a tudo, gemendo que a solução era a paz do Senhor ao lado da mulher. Joaquim e as irmãs, sem possibilidades de continuar a luta, decidiram então deixar Marinatambalo à sua própria sorte naquela hipoteca. E Edgar Meneses recolheu-se a um retiro de sua propriedade nas vizinhanças de Marinatambalo, confiando a fazenda à guarda de d. Marciana, velha empregada da família.
Estas cartas que minuciosamente descreviam a marcha do desastre não causaram mais nenhuma impressão a Edmundo. Chegavam tarde, seu endereço era a Inglaterra, dizia ele, rasgando-as em pedacinhos. Tinha resolvido romper com os irmãos definitivamente. E acrescentava: se na primeira ofensiva do banco resistiram, por que não continuaram a resistência? Não era claro que o dever seria morrerem todos juntos ali? Não seria mais digno que o pai, em vez da cama do hospital, tombasse à porta da casa grande como um verdadeiro proprietário? Essa era a lei da propriedade que violaram e essa traição não se perdoa porque deixava a ele, um sobrevivente, apenas vergonha, pobreza e medo da vida.
Agora estava a fazenda para ser entregue ao dr. Lustosa, que negociava com o banco. Edmundo poderia permanecer ali talvez por um ano ou ficar à merca da generosidade do novo proprietário.
Uma tarde, repentinamente, Edmundo ergueu a cabeça à saída do bosque e decidiu procurar os aterros indígenas existentes na fazenda.
[253] Vestiu sua roupa colonial, sem reparar que, aos cantos da cozinha, poeirentas urnas indígenas guardavam milho, selins e arreios velhos, galinhas da velha Marciana chocando. Regressou à noite com uns cacos de barro no bolso e um infinito mau humor. Durante quase toda a noite andou pela varanda, recitando alto umas coisas talvez lá na língua da terra onde ele se educou”, como disse a velha Marciana, cada vez mais convencida de que era um louco aquele moço fantasma.
Noutro dia, muito cedo, foi visto laçando um dos búfalos mansos que pastavam à frente do bosque, tentando montá-lo. O animal era dócil e poucas semanas depois, para espanto de d. Marciana, Edmundo troteava por entre as árvores do bosque, de calção, muito branco sobre o búfalo negro.
E foi então que, num meio-dia, no mesmo cavalo manco e atrás as malas no mesmo boi cargueiro, apareceu d. Elisa Borges de Meneses, a avó, gritando que estava “disposta a ajudar o neto a levantar de novo aquela fazenda”.
Edmundo aceitou sua avó, como se a loucura dela fosse o complemento de sua desgraça. E logo passou a pescar, remando em cascos, pelos igarapés, caçando em ilhas distantes, topando com novos cacos de cerâmica, ora descalço, vestido a vaqueiro, ora dentro das roupas de explorador inglês, mas tudo isto sem significação nem indicio de esperança. E voltar para a cidade era-lhe inteiramente insuportável.
Consertou a caleche para servir à avó, percorria os retiros próximos, foi sabendo de algumas crueldades do tio, justificando-as porque assim ditava “a lei dos pioneiros”. E o curioso era que não tentava ainda a se avistar com o seu tão sonhado mondongo.
Foi nesse estado de espírito, que Lucíola e Alfredo vieram conhece-lo. E a presença daquela mulher, que sentiu resignada e triste e daquele menino, que parecia desprezá-lo e ter um violento apetite pela vida, animou-o a encontrar-se com o grande pântano em companhia deles.
Ao chegar à porta da cozinha, Edmundo ficou encostado à [254] parede, ouvindo aquela conversação lá dentro sem poder explicar porque aquela tranqüilidade o fazia tão indigno das pessoas que ali estavam, sobretudo daquele menino. D. Marciana continuava falando.
— De dia é sempre assim. A velha devia estar na cidade se tratando com os doutores. Se ao menos ela fizesse como eu faço, lidando com as almas...
— Com as almas?
— Ah, a senhora nem imagina. E uma canseira. Se eu não tivesse minhas orações, meu anjo da guarda, nem sei. Nem sei o que acontecia. Pouco durmo certas noites. São os mortos do lugar. Esta fazenda se chamava Santo Inácio. E por isto o castigo foi maior. Para que o finado dr. Meneses veio com a invenção de um nome que até hoje não sei chamar? Agora, pra lhe dizer uma verdade, não tenho medo. As visagens aparecem e vou ver o que elas querem. Bato o pé com elas, ralho, dou conselho, pareço uma mãe delas.
D. Marciana riu, erguendo-se para abafar o fogo:
— Eu vejo elas com estes olhos. Não tenho cara de mentir. Dou com a língua neles. Pergunto se é o Dias que morreu de uma bala de rifle no vazio. Se é o Pedro Navegante que perdeu a fazendinha e se findou amarrado no tucumãzeiro. Se é o finado Armando Pessoa que mataram e botaram os grãos dele na boca, depois de cadáver. Se são os Bolachas, se são as moças infelicitadas, outros, outros. Mas elas não têm língua. Dão gargalhadas. Soluçam. Gemem. Acendem velas. Cada gemido de meter pena, a senhora deve imaginar. Então pego a vassoura e começo a varrer elas do soalho, pois elas me espiam dos buracos, lá de baixo, pela fresta. Eu sinto, D. Lucíola, os olhos delas assim como uma coisa que querem dizer e não podem, d. Lucíola.
Falando vagaroso, d. Marciana não alterava a voz, os mesmos gestos tranqüilos. Lucíola tinha os olhos nela. Alfredo escutava como nunca escutara uma história.
— Em vez de me assustar são elas que se assustam com a minha varrição, com meus gritos. Eu sempre digo: que é que vocês querem? Querem reza? Aí eu rezo, rezo, rezo, me lembro de [255] tudo quanto é oração, tudo que sei de reza. Mas que nada. Começam de novo os gemidos, baques, bater de porta, barulho de gente apanhando, moças de cabeça baixa chorando. Acendo velas, tenho então uma pena de todas essas moças. Medo, não tenho. Pergunto se querem algum recado, saber uma notícia, uma ladainha, fazer qualquer confissão, culpar algum malvado ainda vivo. Pergunto quem são elas ou eles. Que pena estão sofrendo? Pergunto. A senhora falou? Assim eles.
Aí Alfredo riu. Para ele, d. Marciana comparava Lucíola a uma visagem.
— Por que está rindo, Alfredinho? Não está com medo?
— Não estou me rindo de nada. Não estou com medo.
— Depois, tamanho dia, não, meu filho? E a senhora, d. Lucíola, já ouviu falar desta minha consumição, lá em Cachoeira?
— Ah, não, d. Marciana. Nunca.
— Faço uma idéia, eh... Falam, sim, que eu sei. Eu mesmo conto. Rodolfo nunca se lembrou de lhe falar?
— Nunca, d. Marciana. O que a senhora está me dizendo é surpresa.
— Eu faço uma idéia... Bem que a senhora não quer dizer... Mas, como eu ia contando: eu pergunto se elas querem cumprir alguma promessa. Indago, quem te tirou a honra, finada, para estares penando. Tu és a finada Mundica Paiva? Tu és a Felisberta? Tu és a Liliosa? Querem saber dos filhos? Querem água, comida? E olhe que sempre deixo a mesa do jantar com os pratos sujos para só lavar noutro dia por causa das almas. Deixo o copo d’água no chão, deixo prato e comida, até um cobertor velho para que se cubram, sei lá. Talvez sintam frio, sei lá, tudo quanto é pensamento me vem na cabeça. Mas o que querem, d. Lucíola, eu já maldei aqui comigo. Querem é se vingar dos brancos, dos patrões. Dessa Menesada toda. E, minha irmã. E. Agora, por que eles não se encontram por lá? Elas não sabem que a maior parte desses brancos já morreram? Não se conhecem por lá? Elas querem se vingar e caem em cima da fazenda. Este lugar não tem nada com o que os brancos fizeram. E isto ficou de repente uma tapera por via deles. Parece que elas mexem com as paredes, com as coisas, da [256] feita que elas botam a mão parece que tudo apodrece, vem caindo. Eu estimo este lugar. Pra mim foi e sempre será Santo Inácio. Diz que o dr. Lustosa vai tomar conta disto e desmanchar tudo. Aqui vai ser só campo. Assim disseram. E olhe, não é por amor da família que estou aqui. É porque me acostumei. Tive um filho aqui, aqui nasceu e aqui se enterrou. Este sei que não vem fazer visagem. Ele está no céu, assim espero. Tinha a idade deste menino.
Lucíola, arrepiada — falar no filho morto na idade de Alfredo — olhava para o menino, piscando para que não se incomodasse. Mas Alfredo ouvia com a tensa seriedade dos meninos. As almas queriam vingar-se. Toda riqueza será feita sempre à custa de tanta malvadeza? As almas não sabiam que os seus patrões estavam mortos?
E depois de um silêncio, perguntou:
— Essas visagens não querem se vingar no dr. Edmundo?
D. Marciana riu alto, mas Lucíola empalideceu e ergueu-se rapidamente, vendo Edmundo à porta, risonho:
— Talvez seja isto mesmo, Alfredo. Talvez queiram se vingar em mim, neste seu amigo.
Disse com polida naturalidade. Pousou carinhosamente as mãos nos ombros de d. Marciana enquanto Alfredo retirava-se encabulado e ao mesmo tempo triunfante pelo que ousara dizer.
Depois de tantas histórias sobre fantasmas, sabendo que d. Marciana se preparava para ir ao encontro deles, Lucíola voltou ao quarto rapidamente e embalou a rede de Alfredo num gesto de proteção, com remorsos por tê-lo abandonado. A luz do candeeiro estava bem diminuída.
— Como foi que deixei ele aqui tanto tempo sozinho...
Tal era a naturalidade com que d. Marciana lhe falava das visagens que estas deixavam de meter medo e as histórias a prendiam na cozinha.
Mal via o menino, na sombra, meio enrolado no lençol. Apalpou-lhe a testa, os lábios se mexiam. Está sonhando, cochichou ela. Estava para falar sonhando. Temeu então que ele [257] falasse, pois poderia chamar pela mãe, com medo das visagens, soltar suas ocultas raivas contra ela, Lucíola.
Com a janela aberta, o quarto clareou, não era necessário aumentar a luz. O rosto do menino se tornou tão nítido como se estivesse despertando e se enchendo de cólera ao apanhá-la naquela atitude. Andando pelo quarto, estalava os dedos, as fontes latejavam. Que sinto, meu Deus, perguntou a si mesma. Quase sufocação, desejo de chorar e de rir, uma vertigem de adolescência, certa sede de delírio. Foi, descalça, espalhando os cabelos nas costas, olhar à janela. Algum tempo ficou assim sem pensamentos, sem temores, apaziguada. Minutos depois o maciço das arvores lhe falava do corpo de d. Adélia Meneses, aquela nudez ardia no tronco do tamarindeiro. D. Marciana contava que meses depois a árvore secou.
Fez um hum, hum, cantando em surdina. Um vento desceu e se espalhou por entre a folhagem como bandos de passarinhos. Uma e outra porta nos pavilhões bateu nos batentes. Alfredo ressonava. Lucíola aspirou a noite, aspirando também as velhas noites da juventude.
O vento parou, o arvoredo pesou no silêncio como a idade em Lucíola. Longe, alta uma estrelinha velava pelo sono de Alfredo, guardando as noites que esperariam por ele.
Fechou a janela, aumentou a luz; estaria d. Marciana às voltas com os fantasmas?
Se fosse mais corajosa, iria espiá-la. Não. Não deixaria o menino só.
A seu lado um ser humano crescia, desabrochando a sua força e o seu egoísmo que o afastavam dela para sempre. No sono e nos sonhos é que as crianças crescem, sabia.
Com mão tímida tocou-lhe a rede, como para acordá-lo, parar-lhe o crescimento. Ele fez um en, en... Abriu os olhos, fitou-a como a uma desconhecida e resvalou no mesmo sono, de bruços.
D. Amélia resolvera mandar Sebastião a Marinatambalo, mas o irmão amanhecera naquele dia com frio e febre, metido na [258] despensa. Ela, então, dirigiu-se ao Leônidas, um sobrinho do major Alberto que chegara na véspera de Belém:
— Tu bem que podia dar um passeio lá, Leônidas. Tu já conhece a fazenda? Não? Pois seu Alberto que te conte. Bem que tu podia buscar Alfredo pra mim. Ou... espera, diz a ele que pode ficar... lá... por uns dias. Os dias que queira. Talvez me dê tempo de arrumar as coisas aqui para o colégio, aquilo que ele chama o colégio. Tu vais, Leônidas? Não perdias nada, vias a fazenda, conhecias d. Marciana. Eu podia ir. Mas não... Posso me estranhar com nhá Lucíola. É uma matintaperera aquela moça. Que andava fazendo no campo naquela noite? Aquele meu filho...
Horas depois, Leônidas pronto para sair, d. Amélia, numa das suas tardes de semiembriaguez, teimou em querer acompanhá-lo. Atendeu a uma menina que lhe viera pedir uma colher de açúcar e outra de mamona. E cochichou:
— Toma. Esta não é a República que eu sonhava, como diz seu Alberto.
E riu alto, enquanto, na saleta, Major punha um peso sobre a carta que recebera da irmã.
O sábio não fizera a operação, porque a cegueira de Marialva não tinha cura. Mas as despesas da consulta e da estada em Belém consumiram quase todo o dinheiro, alegava d. Elvira. E explicava: “Do pouco que sobrou, mano Alberto, tive que lançar mão para uma despesa urgente que é a da colação de grau de meu filho que, não sei se sabias, formou-se, graças a Deus. Logo que Afonsinho conseguir o emprego prometido pelo padrinho, o senador Camilo, nós iremos te amortizando. Marialva chorou muito. Nunca tinha ido à cidade. Chorou muito. Que se há de fazer? E a vontade de Deus”.
Major Alberto andou de lado a outro, um longo tempo. Ocultaria a carta a d. Amélia.
Sentou para escrever às filhas, mandá-las romper com a tia, falar-lhes da morte de Mariinha, enviar uma palavra de consolo a Marialva. Apenas rabiscou o nome da cega. Ergueu-se sem sossego para desabafar, surdamente, à janela.
— Vontade de Deus, vontade de Deus... Mas me comeu o [259] dinheirinho todo!
E ao escutar o riso de Amélia, fez um gesto de maior impaciência:
— Agora é essa aí... Começou.
Como para esquecer Marialva e a irmã ou por delícia de reviver, pôs-se a lembrar quando apanhou Amélia em Muaná, como se tivesse apanhado uma fruta do chão. Via-lhe o rosto a seu lado na montaria sem tolda, subindo o Arari. Barnabé, do Araquiçaua remava. A maré, sob o rumor monótono do remo, enchia, com o cheiro do lodo e do mangue, cheiro das velhas cobras mães de rio quando dormem. Mas era também o cheiro da mulher que viajava, do desconhecido que havia nela, pois, preta, silenciosa e cheia como o rio, ia sentindo no ventre os primeiros movimentos do filho. Nas margens, sob o gemido das aves noturnas e das ciganas que acordavam, grasnando nas pontas do mangal e das aningas, pululava uma povoação densa de bichos, um e outro cão latia porta das vagas palhoças entre açaizais ou mangueiras. Ele apalpou-lhe, de leve, o ventre e olhou para o rio com um indefinido temor. A noite era como um ninho de cobra, água voraz, boto, quem sabia? Acompanhando o cheiro daquela gravidez, caveiras de índios se arrastando na enchente. No fundo do rio, movia-se a lama que não era terra nem água, que ele uma vez pisara numa distante alagação, como se pisasse em vermes, em cobras coleando.
Barnabé, sem camisa e com a sua catinga, fedia a tabaco e a peixe. Levantava o remo por um momento. Ouvia-se a montaria cortando a água. O negro voltava a remar com o mesmo compasso como se contasse as remadas, como se tocasse tambor. A carapinha se cobria do pó que a noite soprava das estrelas.
Amélia deitava a cabeça nos sacos de roupa e Major tinha os olhos abertos, velando pela solidão e o sono da mulher em que o filho se gerava.
E agora, no chalé, ela ria, falando alto que ia buscar o filho.
Major ensaiou um gesto de entrar na varanda e ordenar-lhe que não saísse. Se quisesse resistir, Leônidas o ajudaria a amarrá-la no quarto.
[260] Voltou à mesa onde a carta da irmã lhe parecia rir também, com todo o seu descaramento. Olhou-se na vidraça partida da estante: mal via o rosto, apenas a sombra de suas atribulações.
Que farei? Resmungou. Mandá-la embora? Via o chalé abandonado, revendo ao mesmo tempo os anos melhores ao lado de Amélia. Antes dela, tinha sido a casa incendiada, em Muaná, porque defendia os escravos, depois os desenganos da República, a derrota de sua candidatura naquele município, a luta por um emprego em Belém, a viuvez, mortes, a cega, o dom da pobreza que o tornava incapaz de desonestidade, a série de projetos desfeitos no ramerrão, a trezentos e sessenta mil-réis da Secretaria Municipal. Afinal não podia corrigir os acontecimentos, pensou. Nem determinar a que ponto seria possível ainda arrepender-se...
Arrumou os fascículos de Santa Rita de Cássia, recém-chegados pelo Correio. Essa devoção era talvez mais uma variante de sua devoção aos catálogos, do que uma grande fé. Ao conversar nos dias de paz com d. Amélia sobre Rita de Cássia, preferia falar sobre as qualidades humanas da santa. Por exemplo, castigava os filhos como qualquer mãe. Curioso era o destino da santa no casamento, pensava agora. Seu marido, que a espancava, vivia nas tabernas.
Também ele não sabia, refletiu, como deter aquela marcha de escândalos ou evitar a próxima expulsão de Amélia do chalé. Sairia, se ele a mandasse embora? Não acreditava.
Guardou a carta e os fascículos na estante, deu corda no relógio como se desse corda também à sua paciência e foi novamente à janela. Com as mãos espalmadas no peitoril, o ar de quem assoma a tribuna, contemplou o rio como se contemplasse o outro rio, o de sua vida, distante e obscuro, descendo do seu passado. Baixavam as águas do Arari que, se encolhendo, dava a impressão de que os campos de ambas as margens se fundiam. Ao voltar-se viu, pela porta da saleta, o Leônidas no corredor, bebendo água. Fez sinal de que queria lhe falar. O rapaz acenou que esperasse e entrou na cozinha onde já se encontrava d. Amélia.
Depois daquela noite, Major não dirigira uma só palavra a ela ouvindo-a apenas dizer da porta do corredor para o resto da casa: [261] sua ceroula está aí em cima da mala; mude a camisa e ponha a outra no monte da roupa suja; está na mesa (era o almoço); o café esfria, deixe o dinheiro ou o vale pra carne. Uma manhã, vendo que ele não acertava, como sempre, a fazer o nó da gravatinha (não achara a de elástico, os ratos a tinham levado), atou o laço, silenciosamente, sem trocarem uma palavra, sem se fitarem. Quando Major não deixava o dinheiro em cima do Dicionário Prático Ilustrado, mandava Sebastião à Intendência com um dos seus bilhetes. Embaixo da assinatura pedia duzentos réis para o charuto, um cruzado para o vinagre e o sal.
Leônidas veio com a bandeja do café.
— Oh, é o nosso moca? Disse Major fingindo bom humor, levantando a perna nua sobre o banco, coçando-a, devagarinho.
Apanhou a xícara, derramou o café no pires, bebendo-o com ruidosos goles e falou baixo:
— Veja se Amélia fica sossegada. Se faz ela se acomodar, psiu... Ela, nesse estado, não pode sair. Senão tenho que tomar uma qualquer providencia. Estou até aqui.
E passou a mão no gogó, repondo ao mesmo tempo a xícara na bandeja.
— Talvez você, com jeito, ouviu? possa evitai que ela se perca por esses campos. O pior, psiu, é que conheço, e você conhece também, os irmãos dela. São seis.
E Major ergueu seis dedos que tremiam de leve.
Seis. Nenhum deles herdou isso cio pai. Nenhum deles. Havia de ser ela. Psiu. Ela só.
Repetiu, “ela, ela só”, com um acento que comoveu o sobrinho. Pela primeira vez, o velho lhe falara naquilo. Viu-lhe a camisa rasgada ao peito, a mancha do café nas pontas do bigode cor de zinco, os olhos plácidos. Sob aquela placidez, sentia-lhe o desgosto entre resignado e indulgente, e concluiu, com cínica malícia, que o “tio gostava um bocado daquela preta”.
Entretanto, começou a falar a d. Amélia na cozinha, para convencê-la de que ficasse. Falava-lhe com algum a compaixão e interesse — como era simpática aquela negra, como havia sido tão [262] boa dona de casa! — suportando-lhe o bafo da cachaça, as incoerências sobre a viagem a Marinatambalo, concordando por fim que ela deveria dizer, não restava dúvida, poucas e boas a Lucíola. Interrompeu-a para dizer-lhe que havia recebido uma carta da noiva. Perguntou se queria ouvir alguns trechos.
— Não. Não quero saber teus segredos. Não é digno de um homem estar mostrando as cartas da noiva a todo mundo.
— E tu és todo mundo, Amélia?
Ela sorriu, semicerrando os olhos, deu de ombros. Intimamente gostou daquela pergunta de Leônidas e pediu para ele ler o que quisesse.
Leônidas contou fatos novos e repetiu os velhos a respeito do noivado; a carta falava do trabalho em veludo que Izaura bordava; mostrou-lhe uma fotografia: Izaura com uma criança no parque Batista Campos. O que ia dizendo era, sem quase o sentir, mais objeto de confissão do que mesmo tática para fazê-la esquecer a viagem. Ouvira o pedido do velho. Leônidas se hospedaria talvez por muito tempo no chalé, pretendia “parar”, em Cachoeira, com o seu ofício errante de alfaiate. Também, com a saudade da noiva, compreendia os desgostos que lhe dava. Dela eram os desgostos do coração e dele os do ofício. E com pena do velho, de Amélia, da noiva, do menino, de Mariinha, tomou-se de paciência para convencer d. Amélia a ficar em casa, sossegada.
Afinal de contas, aquela mulher era uma preta, concordou, mas não conhecia branca melhor. A respeito dele mesmo, todas as vezes que vinha a Cachoeira, era a mesma, sempre amiga. A qualquer hora da noite, para fazê-lo ir a um baile, gomava a capricho o seu fato branco. Ela ouvia-lhe as confidências sobre namoro, negócios, a procura de trabalho pelas vilas do interior e os conselhos dela valiam muito. Depois, na última estada no chalé, ela lhe dissera, com áspera franqueza e razão, o que pensava a respeito do comportamento dele com a Inocência e com a Natércia, a filha do barbeiro Vitorino.
Amélia, com a cabeça oscilante, muito aceso o branco dos olhos, exagerava agora o seu interesse pelo noivado. Por que não casavam? Estava ficando crônico o noivado. Não pensassem [263] melhorar de vida porque acabariam tropicando de velhos e nunca se casariam. E o pai adotivo dela, um desembargador, nada faria por ele? Será que consentia mesmo no casamento? Ou ele, Leônidas, queria casar, de fato, com a moça?
— Também emprego para alfaiate ele não encontra na política. Se tu fosses bacharel era num instante um lugar de promotor. E olha, outra daquela, tu não encontra. Isto eu sei. Nasceu pra mártir. Tu, tu, hein? Es um Coimbra. Esse seu Alberto, tu pensa, um bom safado. E a tua tia, que tua tia tinha na cabeça pra levar a coitada da Marialva se consultar com, diz que, sábio, de passagem por Belém? Que caridade foi essa que fez seu Alberto vender o gado? Tirou até a vaca do colégio do meu filho. Tua tia quer sustentar grandeza em Belém, que não pode. Aposto que meteu o pau no dinheiro todo e a ceguinha vem na mesma. Cinco contos. Mais. Tudo na bolsa da senhora dona. E eu que fiz o negócio. Vocês, Coimbras, são iguais. Tu, por exemplo. Está no sangue de vocês andar enganando as pobres. Esse teu noivado... Quantos anos?
— Amor não conta tempo, Amélia.
D. Amélia, mudando subitamente de assunto, disse que mandara o Raul pintar a cruz de Mariinha. Teria de cobrir de flores a sepultura da filha e de Eutanázio. Derramou-se em elogios a este, erguendo-se do mocho para dirigir-se à janela e apontar em direção dos fundos da casa de seu Cristóvão na ponta do casario sobre os campos.
— Aquela casa matou o rapaz. Matou. Foi ali que ele encontrou a morte.
Tinha o olhar fixo nos campos, as mãos suspensas para fora da janela. Os horizontes sopravam um ar quente e caiu um redemoinho que envolveu o chalé e se acabou pelo telhado. D. Amélia se voltou para Leônidas com um sorriso frouxo e se lastimou com voz mudada:
— Meu primeiro filho afogou-se. Minha filha agora. E Alfredo, que será dele?
Voltou ao mocho e sentou-se de pernas abertas, a cabeça entre as mãos.
[264] — Estou com medo, Leônidas. Medo das febres. Me lembro que minha filha, pouco antes, dizia: “Estou com medo. Medo, mamãe”. Perdi a coragem, Leônidas. Eu tinha tanta confiança em mim, de que salvava minha filha. Disseram lá na Maternidade, em Belém, que eu não criava ela. Criei. Quando estava criada, veio a febre. Preciso ver meu filho. Tenho medo, Leônidas. Tenho medo até desses redemoinhos pro meu filho. Eles também trazem a febre.
E olhando para Leônidas, com os olhos meio injetados, exclamou:
— Hei de ser a primeira mãe do mundo para Alfredo. Se não tirar ele daqui, me atiro no poço. Ah, ninguém mais do que eu, Leônidas.
Depois, com o mesmo sorriso frouxo, murmurando um “tenho medo, tenho medo”, relanceou o olhar em torno, à procura do charuto para os dentes e declarou:
— E a única coisa que eu peço a seu Alberto, é isto. Um charuto. E olha como estão meus dentes.
Uns dentes perfeitos, observou Leônidas, com alguma inveja e repetindo um ditado que ouvira no sul: bons dentes, bom caráter. Ela os exibiu com infantil vaidade, para rir e pedir a Leônidas que lhe desse de presente uma caixa de charutos. Pegou a mão dele e se encaminhou pelo corredor, murmurando:
— Vem pra cá, Leônidas. Vem pra varanda. Deixa o calor passar que nós vamos. Vou primeiro armar uma rede pra me embalar. Tu em que cavalo tu vai? Aquele manco da guarda? Eu tenho inda que pedir emprestado o do dr. Adalberto. Um manso... Quero agora tirar este calor. E este medo, Leônidas. Seu Alberto não acredita que eu ando doente, que estou sofrendo de uma dor de cabeça terrível. Meus rins doem muito. Não queria que minha filha sofresse dos rins, nem Alfredo. Tenho que tomar novamente banho. Ganhei um papel de cheiro, mas tão cheiroso, Leônidas... Depois te dou um pouco pra tua roupa e pra tua noiva pensar que foram as ruas mulatas. Minha filhinha gostava muito. Tinha as vezes um jeito de mulherzinha, ela. Faceira, não sei de quem herdava a faceirice. Do pai, por certo. Eu pus no caixão dela um papel de cheiro. Ninguém viu. Bem debaixo do corpinho dela. [265] Só eu e minha filha sabemos disso.
Armou a rede e embalou-se, em tão largos embalos, que foi preciso Leônidas segurar os punhos da rede, dizendo:
— Assim tu cais, Amélia. Tu te bates. Te embala devagar. Pra isso não tens medo?
— Este calor, rapaz. Por que tu não trazes a noiva para beber leite em Marajó? Aqui tu podias te casar com ela. Seria bem baratinho. Tu queres é matar a moça de tantos aborrecimentos e ciúmes. Vocês, homens, gostam que as pobres infelizes se matem de ciúme. Tu, tu, lá queres casar. Esse noivado criou caraca. Empedrou.
Parou de embalar, perguntando baixo se major Alberto estava dormindo ou caducando em cima dos catálogos. Riu alto e por fim pôs as mãos sobre os lábios como para abafar um soluço. Levantou-se da rede para tentar vomitar à janela. Quis deitar-se no soalho. Indagou a si mesma, aereamente: estou grávida? Lembrou-se de procurar os brinquedos de Mariinha, foi ao quarto, espiou embaixo das mesas de tipos, atrás das malas e do armário na despensa. Abriu o oratório, pisou num catálogo que atirou janela fora e trouxe a boneca de pano da filha.
— Que tu achas dela, Leônidas? Não sei por onde andam as bruxas de minha filha. Foram atrás dela, por certo. Ora, aposto que foram as pequenas lá de baixo que já levaram. Olha, Leônidas, ela cantava assim para fazer a boneca dormir.
Sentada na rede, imitou Mariinha, cantando e aconchegando a boneca.
— Não. Agora sou eu mesma. A avó que vai fazer dormir a netinha. Pensa? Vou fazer a vontade de mea filha. Vou mandar batizar. Tu vais ser o padrinho. Será meu compadre Leônidas. Tu e a tua noiva. Vamos, mea netinha. Vamos, coitadinha. Um padre não batizava? Batizava? Na pia? Coitadinha, perdeu a mãezinha dela, vamos dormir. Não quero cantar o murucututu do telhado porque mete mais medo do que outra coisa. Vou me lembrar das modinhas que eu aprendia com a Mariquinha Gonzaga. Que fim levou a Mariquinha Gonzaga, Leônidas? Está em Muaná? Teve aquele filho, foi atrás do Laércio, aquele bom do [266] Laércio, atrás de um... Sumiu da vila um tempo. Apareceu coberta de cada mancha, de cada ferida, meu mano! Vou cantar pra mea netinha, Ouviu? Durma, está me ouvindo? Onde estão as tuas companheiras bruxas? Quem roubou? Ou andam procurando a mãe por aí por esses campos? Ó Inocência, ó cabocla sem-vergonha, vai chamar as bruxas! Vem da tua casa e traz a mamadeira para esta neta tão calada! Chora. Por que tu não chora? Tua mãe quando era pequenina sabia abrir a boca, sabia chorar. Anda, Inocência. Leônidas, vai desencavar por onde andam as bruxas de mea filha.
Principiou a cantar alto. “Uma noite eu me lembro ela dormia...” E logo se calou com o dedo nos lábios para Leônidas, dando-lhe a entender que a boneca adormecera.
Major Alberto, de pé, na saleta, sem ser visto por ela, fazia sinais a Leônidas, que estava sentado no banco da mesa de jantar.
D. Amélia, ainda com o dedo sobre os lábios, deitou-se cuidadosamente com a boneca junto ao peito e ficou se embalando.
Em meio a um tropel de cavaleiros lá fora, outro redemoinho rodou pela frente do chalé.
Aos poucos foi d. Amélia adormecendo.
Após combinarem a visita ao mondongo, Edmundo e Lucíola conversaram sobre a doença da avó, o viveiro de fantasmas que d. Marciana criava. Para agradar a hóspede, o rapaz passou a falar de Alfredo, sem convicção, quase sem sinceridade, porque invejava, de fato, o menino. Queria dele aquela virgindade de sentimentos, aquela malcriação, a sede de saber e de conquistar o mundo.
Lucíola não sabia estar atenta a conversação. Pessoas e coisas desaparecidas falavam pela boca daquele homem. Vinham nas palavras a que ela não prestava atenção. Surgia a velha, Edgar Meneses, a esposa deste, o próprio acontecimento da fuga de Alfredo, pessoas, coisas e fatos que lhe pareciam sem existência lógica, criações suas, existentes apenas nos seus antigos sonhos e desejos que lhe voltavam como recordações.
Edmundo calou-se, taciturno. Lucíola olhou para ele, como se o tivesse ofendido. Não se atreveu a dizer uma palavra. Ele [267] cerrou os olhos, apoiando a cabeça loura na parede cheia de fuligem, também como se recordasse.
A moça via-se na fazenda como num espelho. A morte da mãe, a morte do montepio, o suicídio do irmão com aquela mania de “ter dinheiro e ter sífilis”, o desentendimento com Dadá, talvez pelo fato de andarem envelhecendo tão depressa e tão solitárias, o louco intento de agarrar-se àquele menino indomável, tudo isso se refletia em Marinatambalo, na fisionomia daquele homem que tinha os olhos cerrados. Que homem! Era uma figura dos velhos retratos, alta e macerada, faltava apenas a barba dos antigos. E longo tempo ficaram os dois ali, silenciosos.
Alfredo, que passara o dia, ora constrangido, ora com raiva porque Lucíola não partia, ora temeroso de voltar ao chalé para encontrar a mesma situação daquela noite, começou a andar entre as mangueiras, cheio de indagações. Tudo agora lhe parecia sem esperança e nada valia mais a pena fazer? Tudo gorava, como aquela moça e aquele rapaz que gastou anos e anos de estudos para coisa nenhuma? Com o seu desalento, percorreu a área das mangueiras, dominada por uma indagação mais sombria diante do que se acabava, do que já foi, da existência daqueles entes. Seus próprios filhos nasciam já velhos. Queria seguir para o mundo, ver a vida lá fora e apenas lhe sucediam mortes, a venda do gado, a viagem a Marinatambalo, nem mesmo o consolo de que Marialva ficaria boa. Só o passado era feliz? Só os adultos de agora tiveram a possibilidade de ver coisas, conseguir muito do que queriam? Por que os que vinham de Belém falavam sempre mal de tudo, que até os brinquedos não valiam mais nada?
Seu pai falava sempre no “bom tempo” que deixara apenas restos de coisas e pessoas. Em vez de Clara para segui-lo e agradá-lo, era Lucíola. E em vez de Mariinha correndo no campo, para colher pixunas e murucis ou brincar com Andreza no meio das patativas, era aquela velha, numa velha e fúnebre carruagem.
Ninguém, de fato, gostava dos tempos presentes e para estes nasciam ele e outros meninos. Que fizeram as pessoas grandes para deixar apenas isso como herança? Por que faltava cada vez mais dinheiro para comprar simples coisas, pagar um colégio, [268] encomendar um relógio novo para o pai? Ia o mundo sempre para trás? Por que não se reconstruía o que havia desabado, por que não mandavam instalar novamente luz elétrica nâ vila, por que seu pai não mais podia ver em Belém as companhias teatrais?
E Alfredo indagava, confusamente: de hoje em diante seria a vida aquela acumulação de caruncho, de traça e de poeira, destroços e pessoas velhas? Os velhos se lastimavam pelo que acabou. Os novos pelo que não vinha. Para os adultos, o tempo presente era o castigo da maior pobreza, enjôo de tudo, briga de uns com outros, ruínas, luto, ausência de cor e de novidade. Para os meninos, tudo eram trevas, mau agouro, a eterna ameaça de Deus, a censura, a expulsão do paraíso. Tudo não passava mesmo do sempre e sempre “vale de lágrimas” que ouvia das ladainhas? Dantes, sua mãe não era boa?
Repentinamente, se lembrou de uma observação feita sobre os catálogos do pai. Neles vira fábricas, nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, com os dizeres: nossas fábricas em 1873. Adiante: “Nossas fábricas em 1912”. As primeiras fábricas não passavam de magras oficinas, sobradinhos com uma chaminé. As últimas eram a bem dizer cidades, de tão grandes. Que acontecia lá para que as fábricas crescessem? Lá, pobre, gasto, difícil, seria só o passado? Como explicar?
Por isso mesmo, como “ser alguma coisa”, ter a mãe a seu lado fiando redes no chalé num mundo que, ao contrário daquele dos catálogos, andava para trás? Sua imaginação não bastava para apresentar-lhe as linhas precisas do caminho a descobrir. Era uma difusa ambição que começava da simples partida para o colégio, até fazer-se um daqueles deuses do livro da mitologia e carregar o chalé nas costas e colocá-lo numa das muitas ruas de Belém.
Atirou fora o caroço, desta vez, vencido, coçou a cabeça, caminhou pelo bosque. Por que, por que aquele homem foi aprender para nada, foi ser doutor para estar ali? Ou o saber não era mais o mesmo de antigamente?
E quando viu Edmundo e Lucíola, juntos, encostados na mangueira como se esta os sustentassem em pé, veio a última pergunta, a conclusão de todas as suas indagações do dia:
— Por que esses dois não se casam?
[269] Edmundo, no seu búfalo, apontou para a primeira ponta do mato.
— Será este o mondongo? Indagou a si mesmo, levado, de um ímpeto, às visões de sua juventude.
Atrás, na tarde imensa, iam Lucíola e Alfredo juntos num boi rosilho e a pé, guiando, o caboclo Emiliano.
Como que o sol fendia a terra com seus raios, tentando ao mesmo tempo petrificá-la. As visões de Edmundo desfaziam-se aqui e ali pelos pirizais secos, lagunas extintas, um tabocal caído, rastros de bichos, uma e outra árvore copudeira, torta e crestada.
Na agressiva cintilação do aterroado que se estendia, deserto e silencioso, em direção das grandes baixas, os caminhantes sufocavam, exaustos. O mondongo havia recolhido os seus bichos, as suas vozes para receber aqueles peregrinos que avançavam sobre ele como se lhe fossem restituídos, habitantes que eram das primeiras idades da Terra. Calados como se perdessem a linguagem, à proporção que caminhavam, se despojavam de toda e qualquer aparência humana, recolhendo-se àquele pântano a fim de aguardarem ali a nova gênese.
Para Edmundo esse primeiro encontro com o mondongo, que tanto sonhou e amou como propriedade sua, confirmava apenas a sua desolação sem remédio. A linha do pântano crescia agora com um verde crespo sujando a barra do azul puríssimo que no alto do céu fazia amadurecer bagos enormes de nuvens. A planície se desdobrava, rachada sempre, salpicada de baixas onde o mato trazia ainda a marca lodosa das enchentes.
Edmundo, o rosto avermelhado, suando, caminhava. Quem o visse assim, naquele búfalo, diria que estava pronto, com aquelas armas, a se lançar contra os animais fantásticos que saltariam dos mangues, dos aningais e daquela mata encharcada saindo do horizonte como se boiasse de um mar subterrâneo. Nem uma vez só lhe veio a lembrança da Atlântida. A natureza ali o repelia com um desdém selvagem.
Agitando o descampado, passarões voaram alto, desapareceram no mondongo. O vento começou a soprar, excitado, como para atear mais fogo no sol e tornar mais confusa e sinistra a visão do mondongo.
[270] Lucíola, guardando o “filho” na garupa, via aquilo com uma espécie de terror obscuro, sentindo o perigo iminente nas dificuldades do rosilho que tropeçava nas terroadas, resfolegante. O mondongo protegia-se e ameaçava. Para não intimidar-se até ele, era necessário ter a indiferença de Emiliano tão semelhante à vegetação, ao terroadal, ao desconhecido, filho daquela paisagem. Lucíola arquejava aturdida do sol, o rosto fustigado pelo vento, as nádegas já assadas.
Mas Alfredo tinha a face tranqüila, sem perder um só dos seus instantes naquele descobrimento. Seu olhar refletia a força íntima que lhe comunicava a natureza. Estava só, mas livre, encarando fixamente o mondongo para não esquecê-lo nunca mais. E este submetia-se àquele olhar firme, de um fogo que o grande vento não apagava.
Edmundo apeou. Os companheiros apearam também. Agora reunidos e em silêncio passaram a caminhar a pé. E maior foi a presença de Alfredo diante daquelas forças que ali se condensavam no pântano adormecido sob a vegetação maciça e sombria. Sua pequena sombra de menino projetava-se pelo descampado, infiltrando-se pelas fendas da terra. E o pântano se estendeu até perder-se de vista, monstro que um grande mar ali deixara, encalhado e fumegante.
Edmundo voltou-se para Emiliano e perguntou pelo igarapé da Angélica. O caboclo espichou o beiço indicando um ponto distante que fez desanimar Lucíola.
Montaram novamente e partiram. A Edmundo pareceu que o mondongo agora os cercava, desenrolando-se por todo o círculo do horizonte. Redemoinhos do vento pelo descampado desenhavam esguias e vertiginosas figuras de bichos, soprando poeira.
Quando avistaram o igarapé, Edmundo tentou um galope mas o búfalo recusou-se. Alfredo pediu a Lucíola que conduzisse o boi.
O menino, com as mãos seguras nas rédeas do rosilho, fez-se o senhor do descampado e do mondongo.
Já na margem, Edmundo preparou uma das suas armas contra um jacaré que dormia junto a um tronco à flor da águia rajada.
Atirou.
[271] Os bichos se arrastaram pesados, no balcedo que ciriringou profundamente. Edmundo, então, exclamou:
— Vamos. Não são mais meus. Nada mais e meu.
Alfredo olhou para ele, o rapaz enxugou o rosto e tratava a arma. Emiliano, de cócoras, espiava-o de soslaio.
Antes do regresso, Alfredo quis sondar o que havia no outro lado de um pequeno igarapé que corria paralelo ao da Angélica, estreito e de maré seca, fácil de atravessar.
Cruzou-o em companhia de Edmundo, enquanto Lucíola e Emiliano ficavam com os animais, esperando.
Pouco tempo depois, ao voltarem, tiveram que atravessar o igarapé num ponto mais acima, onde já estavam Emiliano e Lucíola, que puxavam os animais pela corda. Alfredo avançou e se encontrava no meio do leito quando, atrás de si, viu Edmundo retorcendo-se, atolado, com todas as suas roupas de explorador.
Edmundo sentiu o leito ceder, os pés afundavam com perneiras e tudo. A lama ia subindo, atingindo-lhe o dólmã, as armas a tiracolo. O chapéu, preso ao pescoço pela correia, tombara-lhe pelas costas. O sorvedouro o enrolava com seus viscosos e pútridos tentáculos de lama que fedia.
Alfredo vendo-o pálido, tentando atirar fora as armas, abrindo o dólmã, o olhar estranho, como sufocado, um tremor nos cantos da boca manchada de lama, não conteve o riso.
— Não, não ria. Dá-me a mão... disse Edmundo baixo.
Mais fundo que a lama era o terror em que esbugalhava os olhos.
Sem compreender o que se passava e com medo, o menino adiantou-se pelo atoleiro, fugindo para a terra. Edmundo pôde vergar a ponta do pé em algo consistente ao lado e rápido, num impulso, se estirou de comprido na superfície da lama como uma arraia para arrastar-se até a beira.
Ao erguer-se, fétido e negro da cabeça aos pés, as armas entupidas, os cabelos pastosos, a máscara de um afogado, foi que o caboclo Emiliano então se lembrou que aquele igarapé tinha lama gulosa.
Chegaram à noite e quando Edmundo, na manhã seguinte, [272] apareceu na cozinha, Alfredo não ousou olhar para ele. Emiliano conversava muito calmo, falando que haviam corrido grande risco porque atrás do piris e no mondongo moravam os búfalos bravios.
[273]
8
Foi Raquel, a tia de Irene, que primeiro avisou: vinha puxada por dois cavalos castanhos, aos solavancos pelo descampado.
Quando com a sua negra capota, sempre aos trancos, como se fosse despedaçar-se num trambolhão a velha caleche entrou na vila pela rua do Mercado, defronte da casa do seu Cristóvão, houve um movimento de quase assombro nas janelas e nos portões. Guiando os animais, na boléia, um homem desconhecido, como se viesse, pensou Raquel. do cemitério ou daqueles encantados de que falavam os vaqueiros e caçadores de jacarés. Maior, porém, foi o pasmo, entre exclamações, risadinhas surdas e o cochicho geral, ao descobrirem que, ao fundo da capota, vinham o filho major Alberto e Lucíola.
— Mas meu Deus... falou Henriqueta, de bruços na sacada do chalé, torcendo o brinco da orelha, com o peso da mulherada nas costas que não sabia do que se espantar mais, se de Lucíola, da caleche fantástica, se do cavalheiro.
— Não são fantasmas, é gente mesmo... E quem... E como foi parar aí o filho do major Alberto? Meu Deus, onde estamos?
Foi o que disse a velha mulher de seu Cristóvão. Um velho pôde arrastar-se da rede, corcovado, no seu ar defunto; espiou por entre o monte das mulheres à janela e suspirou com o queixo a tremer:
— É verdade, é verdade... Há quantos anos... Essa carruagem do... sim. Foi quando dr. Menezes trouxe, uma só vez, para abrilhantar... a procissão de Nossa Senhora. Ai, meninos, me segurem, não posso, me levem pra rede, fiz muito esforço... Me levem.
[274] Mas as moças, de olhos na caleche que passava, não o ampararam e o velho tombou junto à sacada, com um rouco e longo gemido. Assim aumentou a confusão na casa do seu Cristóvão e a agitação na vizinhança.
A caleche foi passando, avançou com penosa dificuldade até a frente da casa da Duduca. A costureira apertada entre os velhos amigos, na torta janela de sua casa em ruínas, não conteve a risadinha seca, seguida de um acesso de tosse de tísica, espalmando a mão no rosto de cera.
Lucíola, cada vez mais sumida no assento, recebeu aquela risadinha como uma chicotada. Alfredo, compreendendo a situação, teve um gesto de enfado e de vergonha; desejou descer, sem ter coragem, porém, de pedir ao dr. Edmundo que, no alto da boléia, saudava todo mundo risonhamente, distribuindo as suas gentilezas. Alfredo irritou-se e pediu, desta vez, para parar aquele trambolho.
— Mas nesta rua, com todo esse horror de gente olhando, meu filho?
— Não me chame de filho, já lhe disse!
O menino afundou-se na velha almofada e na sua raiva. Lucíola ergueu o busto numa súbita decisão e enfrentou com firmeza aquela borbulhante e assombrada curiosidade geral. Dr. Edmundo continuava saudando a vila inteira. Seu rosto branco no sol causava realmente impressão às mulheres e uma delas atreveu-se a falar um pouco alto:
— Mas o cabelo dele é que nem palha de milho.
Houve um psiu! de censura e foi precisamente aí que a caleche empacou. O chicote estalou nos cavalos, as mulheres tiveram surdas exclamações de piedade e a caleche deu um arranco.
Como não pudesse fazer a curva defronte da taberna do Nagib, devido a uma grande vala, dr. Edmundo teve que retroceder, passando novamente pela casa da costureira — nova risadinha e a tosse — pela barbearia, por todas aquelas casas amontoadas que não esqueceriam nunca mais o espetáculo. Os moleques, de baladeira, fios, rabos de curica e papagaios, acompanhavam o trajeto lento e ruidoso. Invejando o filho do Major, gritavam-lhe:
[275] — Deixa eu ir aí também... Arruma um lugarzinho... Ou então na garupa. Não tem um lugar pra mim nesse bonde aí?
Alguns deles tentaram subir o estribo, mas temeram o homem branco que vibrava o chicote, olhando-os risonhamente. Tal como sucedeu nos campos, Alfredo começou a achar novamente divertida aquela viagem, esperando que Andreza o visse.
Lucíola, com enjôo e dor de cabeça, cada vez mais abatida e humilhada, passava a acreditar que o dr. Edmundo havia feito aquilo propositadamente. A risadinha da costureira ardia-lhe no rosto chicoteado. Afinal, foi culpa unicamente sua, aceitara o convite de regressar na caleche, obedecendo, como uma menina, ao capricho daquele homem. E verdade que Alfredo aplaudiu logo a idéia, contentíssimo. Dr. Edmundo fizera aquilo para divertir-se. Plano da velha avó ou doidice de ambos?
Agora estava ali despida e devorada pela rua do Mercado. Que iriam dizer dela, meu Santo Expedito, e o que teria de explicar ao Didico, tão bruto nessas tristes ocasiões? Onde deixara a sua prevenção contra a curiosidade e a língua de Cachoeira? Que lhe deu na cabeça de se entregar assim, como uma matuta, ao gozo daquela gente, como se ignorasse a sua perversidade, como se tivesse ainda ilusões de que nada daquilo aconteceria? Boba, boba, onde estava o seu juízo? E o que diria dela o menino? Isso faria, certamente, maior a separação dele. Aos seus olhos não passaria mais de uma pobre mulher de que todos caçoavam.
— Dr., pare. Prefiro descer aqui.
— Mas agora que...
— Sim, agora que passamos pela frente de toda aquela gente, não, dr.? O senhor não viu? Que cabeça a minha, de deixar que o sr. passasse por ali para dar tamanho espetáculo...
— Mas a senhora acha um espetáculo? Apenas uma simples viagem para fugir do ramerrão. Natural a curiosidade. Muito raro uma carruagem dessas em Cachoeira. A senhora está fazendo um mau juízo...
— Fiz um bom juízo, dr.
— ... um mau juízo dos que viram a nossa passagem. Você, Alfredo, não achou boa a viagem? Não acha, Alfredo, que tenho razão?
[276] — Tem, — murmurou Alfredo, para contrariar Lucíola.
— E então?
— Não havia necessidade nenhuma de entrar na vila pela rua do Mercado. Bastava entrar pelo caminho do moinho e parar nos fundos de casa.
— Mas não foi a senhora que deu a direção?
— Não sei onde estava com minha cabeça, dr. Foi minha, sim, a culpa.
— Não diga culpa, d. Lucíola. Foi uma viagem muito sacudida, mas valeu a pena. Foi ou não uma aventura, hein, meu bravo Alfredo?
Alfredo sorriu encabulado, encolhendo-se ao fundo da caleche e logo um solavanco fez o menino cair de bruços no colo de Lucíola, que achou nisso uma infinita satisfação. A carruagem tomou o caminho da rua de baixo, aumentando os solavancos. Aproximou-se do poço do cata-vento.
Lucíola via as caras da rua do Mercado, as moças com os olhos cheios do dr. Edmundo que conduzia a caleche como um fidalgo dos romances do Saiu. Sorriu e outro salto do carro levou Alfredo a cair novamente nos seus braços, o que deu tempo a ela para acariciar a cabeça do menino. O menino a repeliu, de leve, com um gesto.
Um tímido orgulho, desdém e pena pelas moças surpreendidas ou talvez fascinadas com a aparição de Edmundo, levou-a a sorrir novamente e a olhar a macia tarde com um ingênuo enlevo.
Mas isso não durou muito, ao avistar a sua casa e o chalé do Major, outros problemas surgiram como o de enfrentar d. Amélia e dar-lhe contas do filho.
Na mesma noite, Edmundo Meneses regressou na velha caleche. O ruído parecia ecoar pelos campos, pela vila, pelas margens do rio. A vila ficou em agitados serões e conversas de esquina, acompanhando aquela viagem noturna.
Não fosse a presença do filho do major Alberto, repetia Doduca na sua máquina de costura, rodeada pelos seus velhos [277] convivas, a gente apostava que tinham saído mesmo do cemitério.
— Mas aquela fazenda, Doduca, já é um cemiterio. Não sabe das histórias de d. Marciana? Um dia as visagens levam a velha e ninguém pode aparecer lá.
— E o rapaz?
— Bem, o rapaz... Palavra, que não sei como ainda vive ali.
— Era um coche fúnebre. Aquela moça virou visagem e das piores. Das que andam de dia. Sabe lá...
Doduca riu, sardônica, parando a máquina, para contemplar o velho Almerindo, o oficial de justiça, extinta vocação de pajé, tão gravemente afundado em misteriosas reflexões.
Moças reunidas, à noite, no bosque do professor, apanhando ginjas, combinaram enviar um convite a Edmundo para o pró mo baile das Farias.
— Ou vou dançar com um rapaz mesmo ou então com o boto virado em cavalheiro. Também posso dançar a nova valsa do seu Luiz Peru com um fantasma de verdade. Não tenho “isto” de medo.
Mas uma delas, a Celina, a namorada do Raul, a moça da janela que Alfredo viu na noite de São Marçal, meio gaguejando logo advertiu, risonhamente:
— Olhem... Eu... eu... só digo a vocês... uma coisa. Não quero... nada... com ele. Sei lá quem é. Não sou meuã.
— Meuã?
— Sim, não sabe então? Não... sou metida com bicho...
— Mas, Celina, ele é um homem. Um fazendeiro. Um Meneses.
— Olhem... da maneira como ele apareceu... nessa carruagem me fez lembrar... a história do bicho socuba. Vocês sabem. E u verme de todas as cores como anéis. Só come... come a folha da socubeira... Por isto chamam de bicho da socuba...
Foi aí que outra moça saltou da sombra com um cacho de ginjas e interrompeu a conversa para contar a sua história primeiro, relacionando-a com a aparição de Edmundo.
[278] — Deixa primeiro contar pra vocês, porque tenho ainda que falar com o André e entregar-lhe todas as cartas dele. Acabei.
— Adalzira, todos os meses tu acaba.
— Desta vez, é verdade. E pensa que não foi influência da carruagem e daquele cavalheiro? Foi. Meu coração teve um pressentimento... Mas me deixem contar:
— Adalzira, não brinca... Não levas nada a sério...
— Mas a história do pé da maniva eu levo a sério. E esse homem da carruagem era branco que nem raiz de maniva.
As moças faziam roda em torno da ginjeira carregada. Adalzira, então, contou que, certo dia, uma moça viu no sitio aquele pé de maniva e exclamou: Ah, se esse pé de maniva fosse um homem, eu me casava com ele. Dias depois, no mesmo roçado, lhe apareceu um rapaz que ela achou tão bonito, tão alvo... Namoro vem, namoro vai, a moça não demorou, emprenhou.
— Mas fala baixo, Adalzira. Olha se passa uma pessoa... Tu com essas conversas...
— Que conversas? Não é coisa que pode acontecer com uma de nós? Não nascemos para isto?
— Para isto o quê?
— De ficar assim. Eu, por exemplo...
E Adalzira com as mãos sobre o ventre fez o tamanho da sua possível gravidez.
Saiu da roda, prestando atenção se alguém lhe assobiava do outro lado do bosque.
— Mas anda, Adalzira. Deixa o teu pé de maniva pra lá. Agora é com o nosso maniva da carruagem.
— Maniva, hein? Me dêem aquela maniva pra marido e vejam se eu rejeito. Saía um filho sarará que era um suco, meu Deus...
As moças sacudiram a ginjeira e novas ginjas caíram no chão, nas cabeças e nos colos. Elas as apanhavam fazendo cócegas umas
outras, numa risada geral. Mas Adalzira pediu que escutassem o resto da história. Todas as moças se acomodaram, mastigando ginjas, os olhos faiscando de superstição maliciosa; os peitos arfavam, quentes na sombra quente.
— Mas bem. A moça ficou grávida, não foi? Pois quando ela [279] teve o filho, o rapaz disse: nunca banhe o nosso filho — lá deles
— na água fria. E ela assim fazia. A criança era alvinha que só uma tapioca, os olhos verdes como a folha da maniva. A mãe — lá dele — criava o filho como o pai — lá dele — mandava. Um dia, a moça teve que ir ao roçado e deixou o curumim com a avo. A avó era uma velha tão birrenta, tão sem paciência, que só fervendo a diaba velha dentro de uma chaleira. A criança na mão da velha principiou foi a chorar. Talvez, e isto é por minha conta, talvez por via de só olhar a cara da velha. A avó — lá da criança — fez uma papa de beijucica e deu pro neto. Qual! Nada do jito se calar. A velha não pôs dúvida. Fez foi encher uma tina d’água, tirou o penso da criança e meteu o bichinho dentro da água fria. Paf! Pois a criança não se desfez todinha na água tal qual a tapioca? Pois foi. A velha aí ficou com cada zolhão em cima da água e disse: “Hum, metida com meuã! Teve filho com bicho”. A moça tinha tido filho com um pé de maniva.
— E depois? Quando a moça voltou?
— Acabou-se o que era doce. Não sei mais de nada. E adeus, que quero entregar estas amaldiçoadas cartas pra aquele pé de maniva. Mas só sei que o filho que tivesse dele... Hum! Credo. Podia meter em dez tinas d’água. O bicho era ali, de carne e osso.
As moças gritavam para Adalzira que corria pelo bosque: lá vai o pé de maniva atrás de ti, lá vai, cuidado com o pé de maniva!
Adalzira sumiu e a roda voltou a conversar em torno da ginjeira sobre a aparição da caleche, de Edmundo e Lucíola. Celina, com a sua meia gagueira, que lhe dava maior graça, resolveu terminar a sua história. Uma moça também a caminho da roça viu certa manhã um bicho de socuba deslizando no chão. Cortou ele em dois pedaços. Ao chegar à roça encontrou um desconhecido, rapaz de cabeça amarrada, cinto amarelo, calça listrada de cores. Ela deixou de tirar a mandioca para ficar conversando com ele. Conversação essa que fez eles dois se gostarem assim de supetão e naquele dia mesmo fizeram amores.
Um ah! saiu de todas as moças num fingido pudor. Vendo-a barriguda, o rapaz Lhe avisou: olhe, quando você estiver com as dores, vá ter a criança ao pé da socubeira.
[280] — Pensa que a moça estranhou ao menos que ele dissesse aquilo? Achou foi natural ... Depois se soube que, na hora, a moça foi pro pé da socubeira e ah! meas manas ... em vez de uma criança viu foi sair dela aquela desconforme quantidade de bichos de socuba, saindo
Com um ah! de horror supersticioso, as moças concordaram que havia mistério em todas essas histórias. E começaram a falar novamente na aparição daquele rapaz em tão extravagantes circunstâncias. Também combinaram convidar Lucíola para o baile. E uma, dentre elas, saltando para atingir um galho da ginjeira, indagou num gracejo:
— Ah, quem sabe se o caso do bicho da socuba não se passou com a própria Celina ... Em? Que vocês me dizem?
Então Celina gaguejou como nunca e as moças riram longamente no bosque, comendo ginjas azedas, como um bando de aves noturnas.
À noitinha do dia seguinte, Lucíola preparava os peixes trazidos por Didico da sua tarrafeação de todas as tardes, depois que exercia pela manhã as funções de porteiro da Intendência Municipal.
Com os dedos nas guelras do mandubé, cara franzida, Lucíola ouvia a queixa da irmã sentada na velha cadeira de embalo forrada de lona. Queixava-se que não podia tratar os dentes em Belém. Roupa não tinha mais. Viver naquela casa era mesmo que morar num cemitério. Que falta a sua mãe fazia!
Lucíola virou-se para olhar a irmã que tinha a face inchada e coberta com uma larga e verde folha de malvaísco. Irritou-se.
O que faltava à Dadá realmente, não era a mãe, mas a pensão do montepio, aqueles cento e poucos mil-réis que acabaram com a morte da velha.
— Até tu, Lucíola, exaltou-se Dadá, impaciente porque a irmã nada respondia, até tu perdeste a cabeça. Eu não falei ontem, não te disse nada, bem viste. Fiz tudo pra não falar. Até tu perdeste a cabeça. Que juízo te deu já de andar atrás daquele [281] pequeno como uma cachorra velha?
— Que expressões, Dadá. Tu viste eu andar atrás dele?
— Sou eu que ando, Lucíola? Não sabes o que falaram ontem? Pelo jeito, a ama seca daquele tamanho marmanjo, não es tu? Sou eu, não? E que idéia foi essa, Lucíola, de aparecer naquela carruagem de defunto? Eu não queria falar. Mas calei todo um dia... Eu tive de me esconder no quarto, de vergonha. Aquele homem fez foi te exibir para que todos achassem graça de ti, rissem da tua cara, sua bestalhona.
— Tu falas... Já te esqueceste tão depressa do escândalo que fizeste com a Bita no cemitério?
— Ah, mas que diferença! Ali eu estava com a razão. Eu era irmã dele e não admiti que uma sem-vergonha daquela, que explorou o mano à vontade, fosse cuidar da sepultura dele. Agora tu... Não te sentiste com a afronta. Na certa, serias capaz de ficar ao lado da Bita. Se tu não reconhecias ele como irmão...
— Minha irmã, tu levantas uma questão dessa ainda agora? Por que não reconhecia ele como meu irmão? Não era filho da mesma mãe?
— Puxa Lucíola, tu queres ainda falar que era filho da mesma mãe para dizer que não era filho do mesmo pai... Puxa, mamãe está morta, está morta. Se ela teve filhos de vários homens, a culpa foi da sorte. Tu nem ao menos fizeste isso, para acabar na triste sina de andar de cabeça virada por um filho que não é teu. Fizesse ao menos como mamãe. Então, adota essa jibóia como tua filha, manda batizar ela. E mais lógico.
— E tu? E tu? Por que tu não tiveste coragem? Por quê?
— Mas, minha filha, eu nunca censurei mamãe. Aceitei assim como era ela. Nem tampouco ando enrabichada nos filhos alheios.
Lucíola ergueu-se com a panela cheia de peixes, tonta, com os olhos escuros de raiva.
— Mas quem gozava do montepio deixado pelo seu Saraiva, não era eu que nunca ia a Belém. Não era eu que só vestia e calçava da melhor loja. Não era eu que consumia todo o montepio com luxo e muitas vezes não trazia uma lembrança da cidade para os irmãos. Não era eu que passava meses na casa alheia, [282] comendo à custa dos outros, mas gastando nos teatros, cinemas, festas de Nazaré, carnaval e muitas coisas. Eu sempre ficando por aqui, a criada dos irmãos, a empregada de d. Dadá...
— Ah, mea filha, a culpa não é minha. Se eu ia era porque mamãe queria que eu acompanhasse ela.
— Sabe, Dadá, é bom não remexer esses podres todos. Estou cansada, estás cada vez mais bruta. Não escolhes expressões para dizer o que te vem pela cabeça.
E noutro tom, depois de colocar a panela no fogo:
— Já fizeste gargarejo contra essa inchação? Depois, falando, como há de passar a dor? Mudaste a folha de malvaísco?
— Não pensa que estas me adoçando a boca, não pensa. E escuta: só queria saber se depois que alcançaste essa idade, te convenceste de vir naquela carruagem...
— Dadá, minha irmã, não levanta um pensamento desse.
— Oh, adivinhaste então o que eu ia dizer? Por quê? Muito me admira.
— Olha, filha de Deus, te peço pela salvação de nossa mãe...
— Mas, pequena, estou me admirando que tenhas adivinhado...
— Credo, Dadá, estás ficando, estás escritinho aquela gente do seu Cristóvão, Deus me perdoe.
— É. Tu já me viste de cama e mesa com aquele pessoal. Tu me ensinaste o caminho... Já me viste trocando língua com aquela tua gente. Não, teu pai não é o meu, Lucíola. Não pertence àquela gente...
— Chega, Dadá. Chega. Sossega. Vai mudar a folha do malvaísco. Estou com a cabeça que não agüento. Não sou culpada do que se passa nesta casa. Tens razão, minha irmã. Podias ter melhor sorte.
— Não admito que ninguém se compadeça de mim. Que tu queres dizer com as tuas palavras? Não roubei, não me entreguei a homem nenhum, nunca virei visagem atrás de meninos, nunca andei de coche fúnebre no campo...
— Não disse por mal, mana, não disse. Podes falar como quiseres. Tu hoje mais pareces uma pura criança.
— Não estou pedindo o teu mimo.
[283] Lucíola não respondeu mais, cansadíssima. A irmã murchou a nova folha de malvaísco ao calor das brasas, passou no azeite de andiroba, cobriu a inchação, recolheu-se ao quarto. Lucíola ouvia-lhe as pragas, um e outro gemido. Quem ouvia assim a sua irmã, não poderia imaginar o que foi ela nos bailes, ou quando chegava de Belém, cheia da cidade, como se viesse coberta de ouro.
Seguiu-se um silêncio em que Dadá deveria estar chorando.
Lucíola cortou-se na machadinha ao partir a lenha. Com a mão sangrando, olhou à janela.
Na casa do Major o candeeiro aceso.
O sangue ensopava-lhe a mão. Seria melhor que o sangue se lhe esvaísse todo naquela hora. Pareceu-lhe ouvir a voz do menino, como um apelo à vida.
Enxugou a mão, preparou a lamparina, riscou um fósforo que o vento apagou. Com o terceiro fósforo, acendeu também o farol. O sangue estancava. Desejou instantaneamente atear fogo no vestido, correr em chamas para o quarto, incendiar a casa inteira. Alfredo contemplaria o seu cadáver queimando, a face negra como a de d. Amélia, mas negra de morte e desespero.
Atiçou o fogo da lenha verde que lhe arrancou lágrimas. Era a fumaça, a separação de Alfredo ou a saudade daquelas recordações que sentira em Marinatambalo? Ou a sua covardia de não ter ido entregar pessoalmente o menino a d. Amélia e humilhá-la visto que a encontraria tonta e indigna do filho?
Espalmou a mão úmida na longa testa suada. A irmã voltava a gemer. Pobre irmã. Exagerava aquela dor de dente. Se pudesse com quê, ah! se pudesse levá-la a Belém! Dadá queria ao menos passar o Círio, voltar contando coisas.
Quis gritar à janela: Alfredo, meu filho, vem jantar, por que não vens já?
Procurou ouvir algum rumor do chalé. Se ao menos aquela preta, na sua bebida, quisesse espancar o filho e este pedisse socorro...
No quarto, a ouvir o gemido da irmã, entregou-se a uma total sensação de ruína e abandono que só foi cochilar quando os galos cantaram e os morcegos esvoaçavam na sala em torno do S. Expedito e da jibóia enrolada numa viga do velho teto.
[284] Nada se sabia ao certo no chalé o que fizera Alfredo ou o que lhe aconteceu nos campos.
O fugitivo não encarou a mãe, trancou-se no quarto e ao jantar, o pai bateu na porta, chamando-o. D. Amélia veio da cozinha, passou pelo Major com o rosto virado e entrou no quarto para trazer o filho. Mas este não lhe deu resposta, embrulhando-se na rede.
A mãe insistia, fazendo-se bem humorada, gracejando e a indagar-lhe “que tal a segunda mãe” e que invenção foi aquela da caleche. Alfredo, recolhido sempre, atento ao hálito da mãe, às palavras dela, desejava dizer-lhe... Era uma maneira de torturar-se, fazer maior a sua revolta que lhe doía. E que vergonha por haver fugido! Essa vergonha se fundia numa profunda humilhação pelo fato de ter sido Lucíola quem o achou, o socorreu e lhe fez companhia. E deu as costas para a mãe que parecia compreender tudo.
Mais fundo foi o seu vexame e a sua revolta contra o chalé ao verificar que Andreza “também sabia” e fingia ignorá-lo. E como ele nada falasse sobre a sua fuga e o que vira na fazenda, que fez Andreza? Indagou tudo de Lucíola. Esta, certa que a menina iria contar no chalé, tudo narrou e exagerou a alegria de Alfredo no passeio ao mondongo e na caleche. Andreza, então, diante de Alfredo, só fez foi repetir para d. Amélia o que Lucíola lhe contara.
D. Amélia divertia-se a fim de meter o filho em brios, puxando novos detalhes a que Andreza atendia sem-cerimônia e com a sua imaginação. O menino permanecia na varanda, apenas escutando. Compreendia que Andreza ganhara naqueles dias uma intimidade excessiva no chalé. E porque a menina falasse alto, contando episódios, como se tivesse ido mesmo à fazenda, major Alberto saiu da saleta e pôs-se a passear na varanda, numa cuíra.
Ele e o filho tentavam intervir, cada um a seu modo, na conversa. Não sabiam como. Deitado no soalho, o menino via pela brecha, por onde pescava, a terra enxuta, sombras e não mais peixes. E via também subindo da poeira o rosto de Andreza, fazendo-lhe caretas. Major Alberto examinava as composições de Rodolfo com a sua habitual desaprovação. Experimentava a Didot e [285] chegara a perguntar ao filho:
— Que olhas por aí?
Os dois encararam-se, encabulados, O primeiro impulso do menino foi contar-lhe em voz alta o que acontecera na fazenda e sustentar com o pai uma demorada conversa sobre a história de Marinatambalo. Andreza estava no auge das descrições. Alfredo era o seu personagem, surgia o mondongo, a caleche rodava. D. Amélia ria.
Pretextando necessitar do pacote de algodão, major Alberto entrou no quarto e foi aí que Andreza lhe pediu informações sobre a caleche. Desta vez não era mais que um jogo da menina para metê-lo na conversa e obter a paz entre os dois. Seria um triunfo diante de Alfredo. Quem sabe mesmo se por esse motivo o menino não se reconciliaria também com ela?
Major, esfregando um pé no outro, apoiado à parede, a língua de fora, fez a sua intervenção, dirigindo-se unicamente a menina:
— Uns malucos. E o Meneses não me pagou o fogo de artifício que lhe fiz para aquela festa que terminou em comédia. Nunca me falou. Sempre com gentilezas. Seu Major pra cá, seu Major pra lá, mas não me pagou os fogos. A caleche foi mania. Caleche! Caleche! E em que deu a caleche...
Rapidamente, contou a vida dos Meneses. Andreza ergueu-se, séria, atenta ao que ele dizia, e disse:
— Foram eles que mataram meu pai. Levaram meu mano. Não foi?
Com um silêncio afirmativo, Major parecia hesitante e apenas disse:
— Deveriam estar na cadeia.
D. Amélia pediu que Andreza continuasse. A menina contou-lhe o que sabia da morte do pai, do avô, do desaparecimento do irmão. Passou a repetir que os Meneses mataram a sua família. Alfredo tinha ido dormir na casa dos que matavam gente. Perguntaria a Lucíola se entre os fantasmas que apareciam a d. Marciana não estava o do seu avô. E o mano? Que fim deram a seu irmão.
[286] Major Alberto voltou à varanda, diminuiu duas vezes a luz do candeeiro, observou que precisava azeitar o prelo e tudo isso foi uma minuciosa preparação para falar diretamente a d. Amélia que para tal não deu um s6 passo de sua parte. Mantinha-se na rede, com a mesma curiosidade pelo que Andreza falava, sem contudo deixar de observar os movimentos do Major. Intimamente achara graça julgando-se um pouco requestada. E Alfredo? Evitava agora pensar nele porque teria de pensar em si, pôr a mão na sua ferida.
Foi um trocar de impressões entre d. Amélia e Andreza, uma dúvida que surgiu a respeito do nome de Marinatambalo que fez o Major intervir desta vez em direção dela.
— Marinatambalo é... psiu...
Ela moveu a cabeça, sem olhar para ele, acenando que sim, estava ouvindo, podia falar.
Minutos depois, Andreza passava diante de Alfredo, receosa e tristonha. Na saleta deu com um catálogo de imagens. Muitos santos. Cada uma Nossa Senhora! E a Santa Ceia. Quis levar consigo a página da Santa Ceia. Olhou para a varanda. Por que vendiam imagens? Os santos deveriam aparecer aos homens, de repente. Via os preços. Não entendia. Eram em língua estrangeira. Gostaria de fazer um santo. Ou inventar uma Nossa Senhora que tivesse a cara de sua mãe. Não se lembrava mais de sua mãe. e do pai? Tão pequenina era quando mataram o pai. Fechou o catálogo e espiou para a varanda. Alfredo devia lhe agradecer as pazes que conseguira entre os dois. Ao aproximar-se dele, disse baixo:
— Ingrato.
E saiu correndo para a rua.
Alfredo ainda no soalho, foi ,se arrastando até o pé da parede do quarto para ouvir o que conversavam. E soube de Marialva, do dinheiro perdido, da surda indignação do pai contra a irmã. O silêncio de d. Amélia enchia o quarto.
Caiu na rede aos soluços e medo maior seria se a sua mãe em seu normal, viesse vê-lo. Teria de lhe dizer tudo. Tudo. Gritar com ela. Correr para o pai e pedir contas do gado, da Merência, [287] e adormeceu com aquela conversação miúda e longa, avançando pelas altas horas da noite.
Na manhã seguinte, decidiu fugir novamente com toda a segurança, mas pelo rio, com um rumo certo: Belém.
Durante alguns dias foi se arrumando, sobretudo preparava o espírito para a separação. Escolhera um barco que deveria descer rebocado pela “Lima Júnior”, na noite de sexta-feira. E para não causar desconfiança, mudou de atitude, tornou-se alegre, fingiu estar bem com todo mundo.
Resolveu reconciliar-se com a mãe, que lhe viera falar das aulas do professor Valério. Estava disposto a fingir durante os preparativos da viagem.
— Você, meu filho, não vai freqüentar a escola de manhã. Seu pai paga suas aulas da tarde. Com você, ele não será ríspido. E você sabe que o professor Valério, coitado, não liga ao ensino por que o governo não paga o pobre há mais de três anos. Foi obrigado a pescar, a aceitar trabalhinhos de guarda-livros nas tabernas. A escola estadual não fechou, porque ele se compadeceu das crianças. Estudou na Escola Normal. Sua família teve. Aquela casa velha onde ele mora com a mãe foi um casarão. O que ficou é só uma parte da casa.
— E o bosque, quem plantou?
— Não sei bem. Quando cheguei aqui tinha mais árvores. Derrubaram algumas. Era bonito.
— Mas nunca que se compara com o Bosque de Belém, não
— Não, meu filho, não se compara.
— Quantas vezes a senhora foi a Belém?
— Não vamos falar agora neste assunto. Procure ver que o melhor é ir às aulas do professor Valério.
— Mamãe, por que tudo foi muito bom dantes e hoje não mais? Sempre ouço. Fulano já teve. Isto aqui foi bonito. Foi. Já teve. Foi. Já teve. Por quê?
— As coisas passam. Isto aqui nunca melhora.
— Sempre piora?
— Hum, filho!
— O professor Valério deve ter sido um bom professor, não?
[288] — Sim, era moço. Veio da Escola Normal com muita vontade. Chegou aqui... Depois não pagam. O homem sai com as velhas roupas que ainda usava em Belém. Manda comprar sapatos usados. Como ele se arranja, não sei.
— A senhora acha que ele me prepara para ir a Belém?
— Você pode aproveitar muito com ele.
— E depois, mamãe?
— Depois como?
Alfredo doía-se com o fingimento. Conversava com uma astúcia de que sentia remorso, vergonha, no entanto sabia que a mãe piorava, as cenas sucediam-se no chalé. Era isso o colégio? Era essa a proteção de Nossa Senhora a quem pedira, uma noite, que o mandasse embora de Cachoeira? E se lembrou da história da folha de lilás. Ia agora sem dinheiro e sem bênção.
— Mamãe, eu entro para a escola do professor, mas noutra semana.
Na outra semana, estaria longe.
— Mas ainda é preciso você falar com ele.
— Eu, mamãe? Por que papai não fala?
— Seu pai, logo seu pai, logo seu pai... Seu pai está fazendo a lei do município. O resto do tempo é escrever o pedido de uma tipografia inteira que encontrou no catálogo. E sabe que seu pai sai daqui para a Intendência e da Intendência pra cá...
— E a tipografia vem?
— Vem como o dinheiro que a irmã dele gastou à custa de Marialva. Simples sonho. Não sabia que seu pai vive sonhando?
E como você não quer ir, posso falar eu mesma com o professor.
E talvez hoje.
Aqui o menino arregalou os olhos e falou precipitadamente:
— Não, não. Deixe que eu vou. E vou. Depois ele manda a conta, não é? Dez mil-réis por mês?
— Por que você não quer que eu vá? Seu pai não sabe ainda, mas você fala em nome de seu pai. Por que você não quer que eu vá?
— Mas eu disse que não queria?
Fitaram-se numa mutua interpelação. O olhar de menino, no [289] entender de d. Amélia, era um misto de receio e acusação, vexame e pedido de desculpa.
— Você já foi visitar a nhá Lucíola? Adoeceu ontem. Uma dor do lado. Nunca mais você foi depois do passeio na carruagem real... Depois ela espalha que sou eu que não lhe quero lá...
Nisto, entrou Andreza e foi para Alfredo o momento de mostrar-se carinhoso com a mãe diante da menina. Inclinou-se e quis beijá-la no rosto. D. Amélia recuou, sorrindo, um pouco vexada. O menino viu que os olhos dela eram pretos e não pretos, cor das cobras que vira dentro d’água. E disse que eram bonitos os seus olhos e insistiu em beijar-lhe a testa lisa de um escurume macio. Andreza parecia surpreendida. Alfredo olhava-a de soslaio. foi — Espera, hum, por que essa lembrança, então? Você nunca carinhoso assim, que foi isso? Acho esquisito que você se apressasse a ir falar com o professor só porque eu disse que eu ia.
O filho piscou-lhe para advertir que não estavam sós e o fez de modo que Andreza percebesse. Esta não se dava por achada, a saracotear pela varanda, cantarolando. Quando os viu calados, voltou-se:
— D. Amélia, também me admira tanto carinho... Será que vai embora?
— Como vai embora Andreza?
— A senhora já arranjou o colégio pra ele?
— D. Amélia calou-se, a menina sentou-se no soalho e Alfredo, quase assustado, disfarçou a sua inquietude pegando a ponta da orelha da mãe que foi torcendo devagarinho e deitou a cabeça no colo dela. Perguntou quando furara as orelhas, se havia doído muito, se se lembrava do primeiro brinco, porque agora não usava e se esperava furar as de Mariinha. E afagava-a com tristeza secreta, com o amargor da despedida sem adeus, sem bênção e se espreguiçou a seus pés, como submisso e pronto a confessar-lhe tudo. Mas reagiu. Ergueu-se com a visão das noites em que a mãe lançava gritos e batia os pés no soalho. De novo, para esconder ainda mais o seu plano de fuga, voltava aos seus fingimentos, alisando o pescoço dela, tão preto e tão macio. Deu com um sinalzinho empolado que ele gostaria de tirar com um só corte de navalha. [290] Retirou o pente coque dos cabelos, os grampos...
— Meu filho, você despenca todo o meu cabelo. Já basta que ele é tão nhã...
Era como se lhe dissesse adeus, pedindo-lhe que se curasse, não fizesse mais aquilo, não deixasse que aquela menina, a Andreza, zombasse dela.
D. Amélia olhava para Andreza e sorria. A menina cantarolava para disfarçar o seu despeito. Que poderei fazer, meu Deus, foi o pensamento de Amélia, lembrando-se de Mariinha, sentindo o filho, mudado, que se demorava a olhá-la, a examinar-lhe o rosto, a boca, os olhos cor das cobras, a testa, como se lhe examinasse a consciência.
Alfredo deixou-a para sentar no peitoril da janela. Apoiando a mão no caixilho de cima, permaneceu de perfil. A d. Amélia pareceu ele tão crescido, tão diferente, quase desconhecido, com a luz em cheio no rosto. Ali estava o seu único filho.
— Meu filho, você precisa cortar o cabelo, senão embarca no navio dos cabeludos.
— Vou, mamãe. Vou embarcar, sim, no navio dos cabeludos. E sentiu-se mal, zombando de sua mãe, mas era necessário partir e fazer com que ela compreendesse a necessidade de “curar-se” para recuperá-lo.
Andreza era uma abandonada no meio do soalho.
Alfredo ficou de pé na janela e estendeu o braço em direção da mãe que correu para ele, tirou-o daquela posição, segurando-o pelas axilas.
— Você podia cair. Viu como posso ainda carregar um filho?
— D. Amélia — falou Andreza — a senhora não me disse que ia à sepultura de Mariinha?
— E, sim. Você meu filho, vai falar com o professor e pode nos pegar ainda no caminho, não? A cruz está pronta. Raul pintou.
— Não, mamãe. Não vou.
Não queria fingir em presença de Mariinha. Também não sabia se despedir da irmã que lhe poderia dizer, se pudesse: que tu vais fazer, mano? Tu não deves fugir. Olha o castigo...
E ouvia a voz da velha na história da folha do lilás: pedra há de ser.
[291] Tornou-se covarde e sem razão, na sua amargura. Que importava a partida se estava sem sua irmã?
D. Amélia debruçou-se à janela, pensativamente, sobre o quintal. O ingazeiro pendurava os seus primeiros ingás maduros. Junto à cerca, um resto de bruxa, com as tripas de fora, a velha bruxa de Mariinha de há quanto tempo. Alfredo olhou para a mãe. Se aquela calma perdurasse teria certeza de que em breve ela compreenderia a sua partida. Tudo mudaria se, em vez da fuga, se aproximasse dela e pedisse:
— Mamãe, pelo amor de Mariinha, não faça mais.
Mas estava seguro de que ela se voltaria, bruscamente, metendo a ponta do charuto entre os cabelos, perguntando com rispidez:
— Não faça mais o quê?
E assustou-se diante de Andreza que o espiava.
— Você não vai ver nhá Lucíola? Sua mãe não lhe pediu para ir ver? Que que tu tem que não fala mais comigo?
E ela acrescentou, baixinho:
— Não te tomei tua mãe, nem a nhá Lucíola. Não sou culpada...
— Eh! Te perguntei alguma coisa?
E Alfredo saiu para visitar Lucíola.
Atravessou a escuridão do quarto e encontrou, estendida na rede, a mão dela, de sebo, fria.
— Dadá, traz a luz que está muito escuro — disse Lucíola num gemido.
Queria vê-lo à luz do candeeiro. Aquela visita era como um deslumbramento. Alfredo não dizia nada. Visitava-a pela última vez, liberto para sempre dela. Como Dadá não viesse, Lucíola achou melhor estar com ele na obscuridade. Poupava-se de vê-lo naturalmente constrangido, fazendo aquela visita por um descargo de consciência. Também ele deixaria de vê-la, tão amarela, tão cheia dele, porque não podia ocultar o seu deslumbramento.
Ela preferia dizer:
— Meu filho, você se lembrou de mim. Isto me fez melhor.
[292] — No entanto, limitou-se a falar assim: Foi uma dor aqui do lado. Sabe que o dr. Edmundo veio visitar-me? Esteve aqui. Fez três visitas. Até jogou a noite passada com Didico e Saiu. E você como vai de estudo?
— Bem. Já vou.
— Já vai? Ó Dadá, não trouxeste a luz? Por onde anda essa Dadá, meu Deus...
— Vou ver. Eu chamo.
— Não, não. Fique. Posso ver seu rosto bem. Quem sabe se essa dor não me leva... Está mais magro, mais gordo? Não sentiu nada, nada? Ah, meu filho, se eu tivesse o dinheiro de que você precisa para seguir... A menina cega não curou a vista?
— Como a senhora soube?
— Rodolfo. Sente na esteira. Ó Dadá...
— Já vou. Vim saber como a senhora estava. Mamãe me mandou. Depois, podiam dizer que mamãe me proibiu de vir aqui... Foi ela que me mandou.
Disse e saiu correndo. Lucíola continuava a chamar Dadá.
— A luz, Dadá, a luz.
Alfredo parou no caminho do chalé e compreendeu que procedera mal. Para quem se arriscava a uma viagem e tinha todos os perigos à frente, sem levar a bênção dos pais, era necessário, refletiu ele, parecer bom, ter paciência. Já bastava aquele fingimento todo com a mãe, aqueles disfarces. E temia Andreza, que punha sobre ele aqueles olhos de areia gulosa.
Retrocedeu e subiu a escada da casa velha. Dentro, no silêncio, um vumvum zumbindo pela parede. S. Expedito olhava-o. Procurou a jibóia pelo teto. Espiou pela porta do quarto. A mesma escuridão, o mesmo silêncio. E logo atrás de si as palavras de
Dadá:
— Espiando a casa alheia? Espiando o quê? Você não passa é de um menino ingrato. Nós a bem dizer te criamos, te criamos. Lucíola é uma coitada mesmo.
Alfredo recuou, de olhar aceso:
— Espinhenta de uma figa.
— Espera, seu tratantezinho.
[293] Lucíola já estava entre os dois, protegendo o menino. Surgira de anágua, alta, macilenta, cabelos soltos.
Alfredo desvencilhou-se das mãos de Lucíola, que tombou no soalho. Dadá deu um grito, O menino escapou-se.
D. Amélia veio correndo do chalé e pôde ainda ajudar a Dadá a levar a irmã à rede. O filho, no meio da rua, disse que ia falar com o professor.
— Não foi nada — murmurou Lucíola — não foi nada. Caí. Alfredo assustou-se e fugiu, coitadinho.
Dadá não falou temendo a reação de d. Amélia. Depois que esta saiu, contando que ia ao cemitério, desforrou-se com a irmã numa áspera discussão.
Achou estranho que, ao entrar no cemitério, não sentisse o que esperava por Mariinha. Falara ao professor sobre as aulas com a mesma dissimulação, certo de que, em vez de entrar na escola, já saía. E ao sair, para logo esquecer aquela nova falta, viera correndo pelo campo atrás da mãe, Leônidas e Andreza.
Eram cinco da tarde. Trazia boa impressão do professor, seco e sombrio na aparência, a voz asperamente surda, mas compreensiva. Um ar engraçado nos olhos, no arquear da sobrancelha, na maneira de assobiar curto e distraído. Esteve quase para lhe confessar os seus planos, convicto de que aquele homem ou não acreditava ou guardaria segredo, tal a confiança súbita que lhe inspirou. E agora pelos campos, sentiu o perigo que correu. Não podia confiar em ninguém e a vigilância contra Andreza deveria ser redobrada.
Entrou com cautela para não pisar nas sepulturas quase desfeitas, sem emoções, apenas cansado, procurando a mãe. Com aquele maciço arvoredo ao fundo, o cemitério assemelhava-se a um roçado. Ouviu o chamado de Andreza metida entre as plantas que se inclinavam sobre uma laje escura. Alfredo considerou mais uma vez a falta de respeito da menina. Sempre falando alto, como se estivesse em sua casa. Ah, também vivia assim, porque não tinha nada em sua consciência. Andreza podia fazer o que queria, [294] mostrava logo o que era. E ele? Sentiu-se então mais despeitado, mais triste, mais só, com maior e mais desesperada força de abandonar o chalé.
A mãe, agachada à sepultura da filha, plantava um pé de roseira. Entre as cruzes velhas e partidas, cinzentas e sem braços que ali se erguiam sem dizeres, com um e outro nome legível, destacava-se a cruz de Mariinha pintada de azul. A tarde desceu com uma luz mais viva que encheu os campos, derramou-se nos bosques, banhou o cemitério, dourando as aves que passavam. O chão estava morno, as cruzes aquecidas, algumas árvores cobriam-se de flor.
Um obscuro pensamento lhe mostrava Mariinha desfazendo-se na luz da tarde. As arvores mais altas se iluminavam violentamente e todos os recantos se inundavam do silêncio e do mistério que enchiam o menino. Este via a mãe espalhar flores sobre a sepultura de Eutanázio e mostrar com um gesto as frescas e numerosas sepulturas de crianças, mortas depois de Mariinha. Leônidas balançou a cabeça, passou a mão na boca e indicou outro trecho adiante povoado de anjos. Logo foi a atenção do menino dominada pelo que fazia Andreza: tentava ela agarrar um dos passarinhos que pulavam pela cerca. Em seguida, coçou a perna que tocara num pé de urtiga.
Arre!, murmurou Alfredo, torcendo para que a coceira da urtiga cobrisse o corpo inteiro da menina. Um canto de ave, triste, desceu do arvoredo, canto de ave que o menino desconhecia.
D. Amélia e Leônidas saíram e os dois meninos ficaram decifrando os epitáfios. Alfredo, diante da sepultura de Mariinha, ensaiou dizer-lhe adeus. E Andreza perguntou-lhe se estava rezando.
— Estou.
Continuaram a decifrar os epitáfios. Em que sepultura estaria o filho da nhá Porcina que morreu naquela noite de chuva nas mãos de d. Amélia?
— Se eu estivesse numa dessas, disse Andreza, tu vinhas me trazer flores, na certa. Não?
— Te mata logo e te enterra, se queres.
— Ah, era o que tu querias. Era. Pensa que não sei? Mas se eu morrer primeiro do que tu, minha visagem não há de sair de [295] cima de rua rede.
Alfredo viu naquelas palavras mau presságio. Andreza ousou passar-lhe o braço pelas costas, achegou-se a ele que já lhe sentia a respiração na face. Ela ia beijá-lo e recuou subitamente. Afastou-se, circulando o olhar espantado pelas sepulturas.
Alfredo, imóvel, com aquele sopro quente no rosto, via a iluminação das árvores pelo crepúsculo, fingindo-se indiferente aos movimentos da amiga. Seu coração batia como nunca. A voz de Andreza, já distante — como lhe pareceu distante — chamava-o. Subia das árvores, embebia-se na luz, nas nuvens pesadas de fogo. Chamava-o, chamava-o. Misturava-se no grito arisco dos pássaros, fazia emudecer o canto da ave desconhecida, a visão de Belém à frente do barco de velas ainda levantadas. Tinha o calor do crepúsculo, do chão onde os calangos fugiam escondendo-se nas moitas. Essa voz lançava-o numa pungente e secreta exaltação.
— Anda, Alfredo. Que você tem? Os dois vão longe.
Ela encostou o portão do cemitério e foi caminhando ao lado do amigo, silenciosamente. A primeira sombra espalhou-se nos campos, alisando os capinzais, as ervas brabas, os rasteiros espinhos e as murchas flores da batatarana.
Longe iam d. Amélia e Leônidas, como dois desconhecidos que poderiam desaparecer de repente num redemoinho de luz e de poeira, densa poeira das cores do céu abrasado. As sombras no chão e o silêncio os distanciavam ainda mais entre as árvores, como aquelas nuvens na já amortecida claridade de cima do arvoredo de onde vinha o primeiro pio noturno.
Andreza caminhava de vista baixa, a mão segura na fita cor-de-rosa da cabeça.
Fitaram-se, perturbados. Andreza não sustentou por muito tempo o olhar. A fita desatou-se, um cacho do cabelo caiu-lhe sobre a testa e Alfredo apressou os passos. Foi então que ela o deteve, tomou-lhe a frente, inclinou a cabeça para trás e olhou Alfredo bem nos olhos, prendendo-lhe a mão à sua com a fita:
— Tu viste, tu viste, disse depressa, que pecado eu ia fazendo?
E correu ao chamado de d. Amélia na direção dos fogos do poente que incendiavam Cachoeira.
Quando com a sua negra capota, sempre aos trancos, como se fosse despedaçar-se num trambolhão a velha caleche entrou na vila pela rua do Mercado, defronte da casa do seu Cristóvão, houve um movimento de quase assombro nas janelas e nos portões. Guiando os animais, na boléia, um homem desconhecido, como se viesse, pensou Raquel. do cemitério ou daqueles encantados de que falavam os vaqueiros e caçadores de jacarés. Maior, porém, foi o pasmo, entre exclamações, risadinhas surdas e o cochicho geral, ao descobrirem que, ao fundo da capota, vinham o filho major Alberto e Lucíola.
— Mas meu Deus... falou Henriqueta, de bruços na sacada do chalé, torcendo o brinco da orelha, com o peso da mulherada nas costas que não sabia do que se espantar mais, se de Lucíola, da caleche fantástica, se do cavalheiro.
— Não são fantasmas, é gente mesmo... E quem... E como foi parar aí o filho do major Alberto? Meu Deus, onde estamos?
Foi o que disse a velha mulher de seu Cristóvão. Um velho pôde arrastar-se da rede, corcovado, no seu ar defunto; espiou por entre o monte das mulheres à janela e suspirou com o queixo a tremer:
— É verdade, é verdade... Há quantos anos... Essa carruagem do... sim. Foi quando dr. Menezes trouxe, uma só vez, para abrilhantar... a procissão de Nossa Senhora. Ai, meninos, me segurem, não posso, me levem pra rede, fiz muito esforço... Me levem.
[274] Mas as moças, de olhos na caleche que passava, não o ampararam e o velho tombou junto à sacada, com um rouco e longo gemido. Assim aumentou a confusão na casa do seu Cristóvão e a agitação na vizinhança.
A caleche foi passando, avançou com penosa dificuldade até a frente da casa da Duduca. A costureira apertada entre os velhos amigos, na torta janela de sua casa em ruínas, não conteve a risadinha seca, seguida de um acesso de tosse de tísica, espalmando a mão no rosto de cera.
Lucíola, cada vez mais sumida no assento, recebeu aquela risadinha como uma chicotada. Alfredo, compreendendo a situação, teve um gesto de enfado e de vergonha; desejou descer, sem ter coragem, porém, de pedir ao dr. Edmundo que, no alto da boléia, saudava todo mundo risonhamente, distribuindo as suas gentilezas. Alfredo irritou-se e pediu, desta vez, para parar aquele trambolho.
— Mas nesta rua, com todo esse horror de gente olhando, meu filho?
— Não me chame de filho, já lhe disse!
O menino afundou-se na velha almofada e na sua raiva. Lucíola ergueu o busto numa súbita decisão e enfrentou com firmeza aquela borbulhante e assombrada curiosidade geral. Dr. Edmundo continuava saudando a vila inteira. Seu rosto branco no sol causava realmente impressão às mulheres e uma delas atreveu-se a falar um pouco alto:
— Mas o cabelo dele é que nem palha de milho.
Houve um psiu! de censura e foi precisamente aí que a caleche empacou. O chicote estalou nos cavalos, as mulheres tiveram surdas exclamações de piedade e a caleche deu um arranco.
Como não pudesse fazer a curva defronte da taberna do Nagib, devido a uma grande vala, dr. Edmundo teve que retroceder, passando novamente pela casa da costureira — nova risadinha e a tosse — pela barbearia, por todas aquelas casas amontoadas que não esqueceriam nunca mais o espetáculo. Os moleques, de baladeira, fios, rabos de curica e papagaios, acompanhavam o trajeto lento e ruidoso. Invejando o filho do Major, gritavam-lhe:
[275] — Deixa eu ir aí também... Arruma um lugarzinho... Ou então na garupa. Não tem um lugar pra mim nesse bonde aí?
Alguns deles tentaram subir o estribo, mas temeram o homem branco que vibrava o chicote, olhando-os risonhamente. Tal como sucedeu nos campos, Alfredo começou a achar novamente divertida aquela viagem, esperando que Andreza o visse.
Lucíola, com enjôo e dor de cabeça, cada vez mais abatida e humilhada, passava a acreditar que o dr. Edmundo havia feito aquilo propositadamente. A risadinha da costureira ardia-lhe no rosto chicoteado. Afinal, foi culpa unicamente sua, aceitara o convite de regressar na caleche, obedecendo, como uma menina, ao capricho daquele homem. E verdade que Alfredo aplaudiu logo a idéia, contentíssimo. Dr. Edmundo fizera aquilo para divertir-se. Plano da velha avó ou doidice de ambos?
Agora estava ali despida e devorada pela rua do Mercado. Que iriam dizer dela, meu Santo Expedito, e o que teria de explicar ao Didico, tão bruto nessas tristes ocasiões? Onde deixara a sua prevenção contra a curiosidade e a língua de Cachoeira? Que lhe deu na cabeça de se entregar assim, como uma matuta, ao gozo daquela gente, como se ignorasse a sua perversidade, como se tivesse ainda ilusões de que nada daquilo aconteceria? Boba, boba, onde estava o seu juízo? E o que diria dela o menino? Isso faria, certamente, maior a separação dele. Aos seus olhos não passaria mais de uma pobre mulher de que todos caçoavam.
— Dr., pare. Prefiro descer aqui.
— Mas agora que...
— Sim, agora que passamos pela frente de toda aquela gente, não, dr.? O senhor não viu? Que cabeça a minha, de deixar que o sr. passasse por ali para dar tamanho espetáculo...
— Mas a senhora acha um espetáculo? Apenas uma simples viagem para fugir do ramerrão. Natural a curiosidade. Muito raro uma carruagem dessas em Cachoeira. A senhora está fazendo um mau juízo...
— Fiz um bom juízo, dr.
— ... um mau juízo dos que viram a nossa passagem. Você, Alfredo, não achou boa a viagem? Não acha, Alfredo, que tenho razão?
[276] — Tem, — murmurou Alfredo, para contrariar Lucíola.
— E então?
— Não havia necessidade nenhuma de entrar na vila pela rua do Mercado. Bastava entrar pelo caminho do moinho e parar nos fundos de casa.
— Mas não foi a senhora que deu a direção?
— Não sei onde estava com minha cabeça, dr. Foi minha, sim, a culpa.
— Não diga culpa, d. Lucíola. Foi uma viagem muito sacudida, mas valeu a pena. Foi ou não uma aventura, hein, meu bravo Alfredo?
Alfredo sorriu encabulado, encolhendo-se ao fundo da caleche e logo um solavanco fez o menino cair de bruços no colo de Lucíola, que achou nisso uma infinita satisfação. A carruagem tomou o caminho da rua de baixo, aumentando os solavancos. Aproximou-se do poço do cata-vento.
Lucíola via as caras da rua do Mercado, as moças com os olhos cheios do dr. Edmundo que conduzia a caleche como um fidalgo dos romances do Saiu. Sorriu e outro salto do carro levou Alfredo a cair novamente nos seus braços, o que deu tempo a ela para acariciar a cabeça do menino. O menino a repeliu, de leve, com um gesto.
Um tímido orgulho, desdém e pena pelas moças surpreendidas ou talvez fascinadas com a aparição de Edmundo, levou-a a sorrir novamente e a olhar a macia tarde com um ingênuo enlevo.
Mas isso não durou muito, ao avistar a sua casa e o chalé do Major, outros problemas surgiram como o de enfrentar d. Amélia e dar-lhe contas do filho.
Na mesma noite, Edmundo Meneses regressou na velha caleche. O ruído parecia ecoar pelos campos, pela vila, pelas margens do rio. A vila ficou em agitados serões e conversas de esquina, acompanhando aquela viagem noturna.
Não fosse a presença do filho do major Alberto, repetia Doduca na sua máquina de costura, rodeada pelos seus velhos [277] convivas, a gente apostava que tinham saído mesmo do cemitério.
— Mas aquela fazenda, Doduca, já é um cemiterio. Não sabe das histórias de d. Marciana? Um dia as visagens levam a velha e ninguém pode aparecer lá.
— E o rapaz?
— Bem, o rapaz... Palavra, que não sei como ainda vive ali.
— Era um coche fúnebre. Aquela moça virou visagem e das piores. Das que andam de dia. Sabe lá...
Doduca riu, sardônica, parando a máquina, para contemplar o velho Almerindo, o oficial de justiça, extinta vocação de pajé, tão gravemente afundado em misteriosas reflexões.
Moças reunidas, à noite, no bosque do professor, apanhando ginjas, combinaram enviar um convite a Edmundo para o pró mo baile das Farias.
— Ou vou dançar com um rapaz mesmo ou então com o boto virado em cavalheiro. Também posso dançar a nova valsa do seu Luiz Peru com um fantasma de verdade. Não tenho “isto” de medo.
Mas uma delas, a Celina, a namorada do Raul, a moça da janela que Alfredo viu na noite de São Marçal, meio gaguejando logo advertiu, risonhamente:
— Olhem... Eu... eu... só digo a vocês... uma coisa. Não quero... nada... com ele. Sei lá quem é. Não sou meuã.
— Meuã?
— Sim, não sabe então? Não... sou metida com bicho...
— Mas, Celina, ele é um homem. Um fazendeiro. Um Meneses.
— Olhem... da maneira como ele apareceu... nessa carruagem me fez lembrar... a história do bicho socuba. Vocês sabem. E u verme de todas as cores como anéis. Só come... come a folha da socubeira... Por isto chamam de bicho da socuba...
Foi aí que outra moça saltou da sombra com um cacho de ginjas e interrompeu a conversa para contar a sua história primeiro, relacionando-a com a aparição de Edmundo.
[278] — Deixa primeiro contar pra vocês, porque tenho ainda que falar com o André e entregar-lhe todas as cartas dele. Acabei.
— Adalzira, todos os meses tu acaba.
— Desta vez, é verdade. E pensa que não foi influência da carruagem e daquele cavalheiro? Foi. Meu coração teve um pressentimento... Mas me deixem contar:
— Adalzira, não brinca... Não levas nada a sério...
— Mas a história do pé da maniva eu levo a sério. E esse homem da carruagem era branco que nem raiz de maniva.
As moças faziam roda em torno da ginjeira carregada. Adalzira, então, contou que, certo dia, uma moça viu no sitio aquele pé de maniva e exclamou: Ah, se esse pé de maniva fosse um homem, eu me casava com ele. Dias depois, no mesmo roçado, lhe apareceu um rapaz que ela achou tão bonito, tão alvo... Namoro vem, namoro vai, a moça não demorou, emprenhou.
— Mas fala baixo, Adalzira. Olha se passa uma pessoa... Tu com essas conversas...
— Que conversas? Não é coisa que pode acontecer com uma de nós? Não nascemos para isto?
— Para isto o quê?
— De ficar assim. Eu, por exemplo...
E Adalzira com as mãos sobre o ventre fez o tamanho da sua possível gravidez.
Saiu da roda, prestando atenção se alguém lhe assobiava do outro lado do bosque.
— Mas anda, Adalzira. Deixa o teu pé de maniva pra lá. Agora é com o nosso maniva da carruagem.
— Maniva, hein? Me dêem aquela maniva pra marido e vejam se eu rejeito. Saía um filho sarará que era um suco, meu Deus...
As moças sacudiram a ginjeira e novas ginjas caíram no chão, nas cabeças e nos colos. Elas as apanhavam fazendo cócegas umas
outras, numa risada geral. Mas Adalzira pediu que escutassem o resto da história. Todas as moças se acomodaram, mastigando ginjas, os olhos faiscando de superstição maliciosa; os peitos arfavam, quentes na sombra quente.
— Mas bem. A moça ficou grávida, não foi? Pois quando ela [279] teve o filho, o rapaz disse: nunca banhe o nosso filho — lá deles
— na água fria. E ela assim fazia. A criança era alvinha que só uma tapioca, os olhos verdes como a folha da maniva. A mãe — lá dele — criava o filho como o pai — lá dele — mandava. Um dia, a moça teve que ir ao roçado e deixou o curumim com a avo. A avó era uma velha tão birrenta, tão sem paciência, que só fervendo a diaba velha dentro de uma chaleira. A criança na mão da velha principiou foi a chorar. Talvez, e isto é por minha conta, talvez por via de só olhar a cara da velha. A avó — lá da criança — fez uma papa de beijucica e deu pro neto. Qual! Nada do jito se calar. A velha não pôs dúvida. Fez foi encher uma tina d’água, tirou o penso da criança e meteu o bichinho dentro da água fria. Paf! Pois a criança não se desfez todinha na água tal qual a tapioca? Pois foi. A velha aí ficou com cada zolhão em cima da água e disse: “Hum, metida com meuã! Teve filho com bicho”. A moça tinha tido filho com um pé de maniva.
— E depois? Quando a moça voltou?
— Acabou-se o que era doce. Não sei mais de nada. E adeus, que quero entregar estas amaldiçoadas cartas pra aquele pé de maniva. Mas só sei que o filho que tivesse dele... Hum! Credo. Podia meter em dez tinas d’água. O bicho era ali, de carne e osso.
As moças gritavam para Adalzira que corria pelo bosque: lá vai o pé de maniva atrás de ti, lá vai, cuidado com o pé de maniva!
Adalzira sumiu e a roda voltou a conversar em torno da ginjeira sobre a aparição da caleche, de Edmundo e Lucíola. Celina, com a sua meia gagueira, que lhe dava maior graça, resolveu terminar a sua história. Uma moça também a caminho da roça viu certa manhã um bicho de socuba deslizando no chão. Cortou ele em dois pedaços. Ao chegar à roça encontrou um desconhecido, rapaz de cabeça amarrada, cinto amarelo, calça listrada de cores. Ela deixou de tirar a mandioca para ficar conversando com ele. Conversação essa que fez eles dois se gostarem assim de supetão e naquele dia mesmo fizeram amores.
Um ah! saiu de todas as moças num fingido pudor. Vendo-a barriguda, o rapaz Lhe avisou: olhe, quando você estiver com as dores, vá ter a criança ao pé da socubeira.
[280] — Pensa que a moça estranhou ao menos que ele dissesse aquilo? Achou foi natural ... Depois se soube que, na hora, a moça foi pro pé da socubeira e ah! meas manas ... em vez de uma criança viu foi sair dela aquela desconforme quantidade de bichos de socuba, saindo
Com um ah! de horror supersticioso, as moças concordaram que havia mistério em todas essas histórias. E começaram a falar novamente na aparição daquele rapaz em tão extravagantes circunstâncias. Também combinaram convidar Lucíola para o baile. E uma, dentre elas, saltando para atingir um galho da ginjeira, indagou num gracejo:
— Ah, quem sabe se o caso do bicho da socuba não se passou com a própria Celina ... Em? Que vocês me dizem?
Então Celina gaguejou como nunca e as moças riram longamente no bosque, comendo ginjas azedas, como um bando de aves noturnas.
À noitinha do dia seguinte, Lucíola preparava os peixes trazidos por Didico da sua tarrafeação de todas as tardes, depois que exercia pela manhã as funções de porteiro da Intendência Municipal.
Com os dedos nas guelras do mandubé, cara franzida, Lucíola ouvia a queixa da irmã sentada na velha cadeira de embalo forrada de lona. Queixava-se que não podia tratar os dentes em Belém. Roupa não tinha mais. Viver naquela casa era mesmo que morar num cemitério. Que falta a sua mãe fazia!
Lucíola virou-se para olhar a irmã que tinha a face inchada e coberta com uma larga e verde folha de malvaísco. Irritou-se.
O que faltava à Dadá realmente, não era a mãe, mas a pensão do montepio, aqueles cento e poucos mil-réis que acabaram com a morte da velha.
— Até tu, Lucíola, exaltou-se Dadá, impaciente porque a irmã nada respondia, até tu perdeste a cabeça. Eu não falei ontem, não te disse nada, bem viste. Fiz tudo pra não falar. Até tu perdeste a cabeça. Que juízo te deu já de andar atrás daquele [281] pequeno como uma cachorra velha?
— Que expressões, Dadá. Tu viste eu andar atrás dele?
— Sou eu que ando, Lucíola? Não sabes o que falaram ontem? Pelo jeito, a ama seca daquele tamanho marmanjo, não es tu? Sou eu, não? E que idéia foi essa, Lucíola, de aparecer naquela carruagem de defunto? Eu não queria falar. Mas calei todo um dia... Eu tive de me esconder no quarto, de vergonha. Aquele homem fez foi te exibir para que todos achassem graça de ti, rissem da tua cara, sua bestalhona.
— Tu falas... Já te esqueceste tão depressa do escândalo que fizeste com a Bita no cemitério?
— Ah, mas que diferença! Ali eu estava com a razão. Eu era irmã dele e não admiti que uma sem-vergonha daquela, que explorou o mano à vontade, fosse cuidar da sepultura dele. Agora tu... Não te sentiste com a afronta. Na certa, serias capaz de ficar ao lado da Bita. Se tu não reconhecias ele como irmão...
— Minha irmã, tu levantas uma questão dessa ainda agora? Por que não reconhecia ele como meu irmão? Não era filho da mesma mãe?
— Puxa Lucíola, tu queres ainda falar que era filho da mesma mãe para dizer que não era filho do mesmo pai... Puxa, mamãe está morta, está morta. Se ela teve filhos de vários homens, a culpa foi da sorte. Tu nem ao menos fizeste isso, para acabar na triste sina de andar de cabeça virada por um filho que não é teu. Fizesse ao menos como mamãe. Então, adota essa jibóia como tua filha, manda batizar ela. E mais lógico.
— E tu? E tu? Por que tu não tiveste coragem? Por quê?
— Mas, minha filha, eu nunca censurei mamãe. Aceitei assim como era ela. Nem tampouco ando enrabichada nos filhos alheios.
Lucíola ergueu-se com a panela cheia de peixes, tonta, com os olhos escuros de raiva.
— Mas quem gozava do montepio deixado pelo seu Saraiva, não era eu que nunca ia a Belém. Não era eu que só vestia e calçava da melhor loja. Não era eu que consumia todo o montepio com luxo e muitas vezes não trazia uma lembrança da cidade para os irmãos. Não era eu que passava meses na casa alheia, [282] comendo à custa dos outros, mas gastando nos teatros, cinemas, festas de Nazaré, carnaval e muitas coisas. Eu sempre ficando por aqui, a criada dos irmãos, a empregada de d. Dadá...
— Ah, mea filha, a culpa não é minha. Se eu ia era porque mamãe queria que eu acompanhasse ela.
— Sabe, Dadá, é bom não remexer esses podres todos. Estou cansada, estás cada vez mais bruta. Não escolhes expressões para dizer o que te vem pela cabeça.
E noutro tom, depois de colocar a panela no fogo:
— Já fizeste gargarejo contra essa inchação? Depois, falando, como há de passar a dor? Mudaste a folha de malvaísco?
— Não pensa que estas me adoçando a boca, não pensa. E escuta: só queria saber se depois que alcançaste essa idade, te convenceste de vir naquela carruagem...
— Dadá, minha irmã, não levanta um pensamento desse.
— Oh, adivinhaste então o que eu ia dizer? Por quê? Muito me admira.
— Olha, filha de Deus, te peço pela salvação de nossa mãe...
— Mas, pequena, estou me admirando que tenhas adivinhado...
— Credo, Dadá, estás ficando, estás escritinho aquela gente do seu Cristóvão, Deus me perdoe.
— É. Tu já me viste de cama e mesa com aquele pessoal. Tu me ensinaste o caminho... Já me viste trocando língua com aquela tua gente. Não, teu pai não é o meu, Lucíola. Não pertence àquela gente...
— Chega, Dadá. Chega. Sossega. Vai mudar a folha do malvaísco. Estou com a cabeça que não agüento. Não sou culpada do que se passa nesta casa. Tens razão, minha irmã. Podias ter melhor sorte.
— Não admito que ninguém se compadeça de mim. Que tu queres dizer com as tuas palavras? Não roubei, não me entreguei a homem nenhum, nunca virei visagem atrás de meninos, nunca andei de coche fúnebre no campo...
— Não disse por mal, mana, não disse. Podes falar como quiseres. Tu hoje mais pareces uma pura criança.
— Não estou pedindo o teu mimo.
[283] Lucíola não respondeu mais, cansadíssima. A irmã murchou a nova folha de malvaísco ao calor das brasas, passou no azeite de andiroba, cobriu a inchação, recolheu-se ao quarto. Lucíola ouvia-lhe as pragas, um e outro gemido. Quem ouvia assim a sua irmã, não poderia imaginar o que foi ela nos bailes, ou quando chegava de Belém, cheia da cidade, como se viesse coberta de ouro.
Seguiu-se um silêncio em que Dadá deveria estar chorando.
Lucíola cortou-se na machadinha ao partir a lenha. Com a mão sangrando, olhou à janela.
Na casa do Major o candeeiro aceso.
O sangue ensopava-lhe a mão. Seria melhor que o sangue se lhe esvaísse todo naquela hora. Pareceu-lhe ouvir a voz do menino, como um apelo à vida.
Enxugou a mão, preparou a lamparina, riscou um fósforo que o vento apagou. Com o terceiro fósforo, acendeu também o farol. O sangue estancava. Desejou instantaneamente atear fogo no vestido, correr em chamas para o quarto, incendiar a casa inteira. Alfredo contemplaria o seu cadáver queimando, a face negra como a de d. Amélia, mas negra de morte e desespero.
Atiçou o fogo da lenha verde que lhe arrancou lágrimas. Era a fumaça, a separação de Alfredo ou a saudade daquelas recordações que sentira em Marinatambalo? Ou a sua covardia de não ter ido entregar pessoalmente o menino a d. Amélia e humilhá-la visto que a encontraria tonta e indigna do filho?
Espalmou a mão úmida na longa testa suada. A irmã voltava a gemer. Pobre irmã. Exagerava aquela dor de dente. Se pudesse com quê, ah! se pudesse levá-la a Belém! Dadá queria ao menos passar o Círio, voltar contando coisas.
Quis gritar à janela: Alfredo, meu filho, vem jantar, por que não vens já?
Procurou ouvir algum rumor do chalé. Se ao menos aquela preta, na sua bebida, quisesse espancar o filho e este pedisse socorro...
No quarto, a ouvir o gemido da irmã, entregou-se a uma total sensação de ruína e abandono que só foi cochilar quando os galos cantaram e os morcegos esvoaçavam na sala em torno do S. Expedito e da jibóia enrolada numa viga do velho teto.
[284] Nada se sabia ao certo no chalé o que fizera Alfredo ou o que lhe aconteceu nos campos.
O fugitivo não encarou a mãe, trancou-se no quarto e ao jantar, o pai bateu na porta, chamando-o. D. Amélia veio da cozinha, passou pelo Major com o rosto virado e entrou no quarto para trazer o filho. Mas este não lhe deu resposta, embrulhando-se na rede.
A mãe insistia, fazendo-se bem humorada, gracejando e a indagar-lhe “que tal a segunda mãe” e que invenção foi aquela da caleche. Alfredo, recolhido sempre, atento ao hálito da mãe, às palavras dela, desejava dizer-lhe... Era uma maneira de torturar-se, fazer maior a sua revolta que lhe doía. E que vergonha por haver fugido! Essa vergonha se fundia numa profunda humilhação pelo fato de ter sido Lucíola quem o achou, o socorreu e lhe fez companhia. E deu as costas para a mãe que parecia compreender tudo.
Mais fundo foi o seu vexame e a sua revolta contra o chalé ao verificar que Andreza “também sabia” e fingia ignorá-lo. E como ele nada falasse sobre a sua fuga e o que vira na fazenda, que fez Andreza? Indagou tudo de Lucíola. Esta, certa que a menina iria contar no chalé, tudo narrou e exagerou a alegria de Alfredo no passeio ao mondongo e na caleche. Andreza, então, diante de Alfredo, só fez foi repetir para d. Amélia o que Lucíola lhe contara.
D. Amélia divertia-se a fim de meter o filho em brios, puxando novos detalhes a que Andreza atendia sem-cerimônia e com a sua imaginação. O menino permanecia na varanda, apenas escutando. Compreendia que Andreza ganhara naqueles dias uma intimidade excessiva no chalé. E porque a menina falasse alto, contando episódios, como se tivesse ido mesmo à fazenda, major Alberto saiu da saleta e pôs-se a passear na varanda, numa cuíra.
Ele e o filho tentavam intervir, cada um a seu modo, na conversa. Não sabiam como. Deitado no soalho, o menino via pela brecha, por onde pescava, a terra enxuta, sombras e não mais peixes. E via também subindo da poeira o rosto de Andreza, fazendo-lhe caretas. Major Alberto examinava as composições de Rodolfo com a sua habitual desaprovação. Experimentava a Didot e [285] chegara a perguntar ao filho:
— Que olhas por aí?
Os dois encararam-se, encabulados, O primeiro impulso do menino foi contar-lhe em voz alta o que acontecera na fazenda e sustentar com o pai uma demorada conversa sobre a história de Marinatambalo. Andreza estava no auge das descrições. Alfredo era o seu personagem, surgia o mondongo, a caleche rodava. D. Amélia ria.
Pretextando necessitar do pacote de algodão, major Alberto entrou no quarto e foi aí que Andreza lhe pediu informações sobre a caleche. Desta vez não era mais que um jogo da menina para metê-lo na conversa e obter a paz entre os dois. Seria um triunfo diante de Alfredo. Quem sabe mesmo se por esse motivo o menino não se reconciliaria também com ela?
Major, esfregando um pé no outro, apoiado à parede, a língua de fora, fez a sua intervenção, dirigindo-se unicamente a menina:
— Uns malucos. E o Meneses não me pagou o fogo de artifício que lhe fiz para aquela festa que terminou em comédia. Nunca me falou. Sempre com gentilezas. Seu Major pra cá, seu Major pra lá, mas não me pagou os fogos. A caleche foi mania. Caleche! Caleche! E em que deu a caleche...
Rapidamente, contou a vida dos Meneses. Andreza ergueu-se, séria, atenta ao que ele dizia, e disse:
— Foram eles que mataram meu pai. Levaram meu mano. Não foi?
Com um silêncio afirmativo, Major parecia hesitante e apenas disse:
— Deveriam estar na cadeia.
D. Amélia pediu que Andreza continuasse. A menina contou-lhe o que sabia da morte do pai, do avô, do desaparecimento do irmão. Passou a repetir que os Meneses mataram a sua família. Alfredo tinha ido dormir na casa dos que matavam gente. Perguntaria a Lucíola se entre os fantasmas que apareciam a d. Marciana não estava o do seu avô. E o mano? Que fim deram a seu irmão.
[286] Major Alberto voltou à varanda, diminuiu duas vezes a luz do candeeiro, observou que precisava azeitar o prelo e tudo isso foi uma minuciosa preparação para falar diretamente a d. Amélia que para tal não deu um s6 passo de sua parte. Mantinha-se na rede, com a mesma curiosidade pelo que Andreza falava, sem contudo deixar de observar os movimentos do Major. Intimamente achara graça julgando-se um pouco requestada. E Alfredo? Evitava agora pensar nele porque teria de pensar em si, pôr a mão na sua ferida.
Foi um trocar de impressões entre d. Amélia e Andreza, uma dúvida que surgiu a respeito do nome de Marinatambalo que fez o Major intervir desta vez em direção dela.
— Marinatambalo é... psiu...
Ela moveu a cabeça, sem olhar para ele, acenando que sim, estava ouvindo, podia falar.
Minutos depois, Andreza passava diante de Alfredo, receosa e tristonha. Na saleta deu com um catálogo de imagens. Muitos santos. Cada uma Nossa Senhora! E a Santa Ceia. Quis levar consigo a página da Santa Ceia. Olhou para a varanda. Por que vendiam imagens? Os santos deveriam aparecer aos homens, de repente. Via os preços. Não entendia. Eram em língua estrangeira. Gostaria de fazer um santo. Ou inventar uma Nossa Senhora que tivesse a cara de sua mãe. Não se lembrava mais de sua mãe. e do pai? Tão pequenina era quando mataram o pai. Fechou o catálogo e espiou para a varanda. Alfredo devia lhe agradecer as pazes que conseguira entre os dois. Ao aproximar-se dele, disse baixo:
— Ingrato.
E saiu correndo para a rua.
Alfredo ainda no soalho, foi ,se arrastando até o pé da parede do quarto para ouvir o que conversavam. E soube de Marialva, do dinheiro perdido, da surda indignação do pai contra a irmã. O silêncio de d. Amélia enchia o quarto.
Caiu na rede aos soluços e medo maior seria se a sua mãe em seu normal, viesse vê-lo. Teria de lhe dizer tudo. Tudo. Gritar com ela. Correr para o pai e pedir contas do gado, da Merência, [287] e adormeceu com aquela conversação miúda e longa, avançando pelas altas horas da noite.
Na manhã seguinte, decidiu fugir novamente com toda a segurança, mas pelo rio, com um rumo certo: Belém.
Durante alguns dias foi se arrumando, sobretudo preparava o espírito para a separação. Escolhera um barco que deveria descer rebocado pela “Lima Júnior”, na noite de sexta-feira. E para não causar desconfiança, mudou de atitude, tornou-se alegre, fingiu estar bem com todo mundo.
Resolveu reconciliar-se com a mãe, que lhe viera falar das aulas do professor Valério. Estava disposto a fingir durante os preparativos da viagem.
— Você, meu filho, não vai freqüentar a escola de manhã. Seu pai paga suas aulas da tarde. Com você, ele não será ríspido. E você sabe que o professor Valério, coitado, não liga ao ensino por que o governo não paga o pobre há mais de três anos. Foi obrigado a pescar, a aceitar trabalhinhos de guarda-livros nas tabernas. A escola estadual não fechou, porque ele se compadeceu das crianças. Estudou na Escola Normal. Sua família teve. Aquela casa velha onde ele mora com a mãe foi um casarão. O que ficou é só uma parte da casa.
— E o bosque, quem plantou?
— Não sei bem. Quando cheguei aqui tinha mais árvores. Derrubaram algumas. Era bonito.
— Mas nunca que se compara com o Bosque de Belém, não
— Não, meu filho, não se compara.
— Quantas vezes a senhora foi a Belém?
— Não vamos falar agora neste assunto. Procure ver que o melhor é ir às aulas do professor Valério.
— Mamãe, por que tudo foi muito bom dantes e hoje não mais? Sempre ouço. Fulano já teve. Isto aqui foi bonito. Foi. Já teve. Foi. Já teve. Por quê?
— As coisas passam. Isto aqui nunca melhora.
— Sempre piora?
— Hum, filho!
— O professor Valério deve ter sido um bom professor, não?
[288] — Sim, era moço. Veio da Escola Normal com muita vontade. Chegou aqui... Depois não pagam. O homem sai com as velhas roupas que ainda usava em Belém. Manda comprar sapatos usados. Como ele se arranja, não sei.
— A senhora acha que ele me prepara para ir a Belém?
— Você pode aproveitar muito com ele.
— E depois, mamãe?
— Depois como?
Alfredo doía-se com o fingimento. Conversava com uma astúcia de que sentia remorso, vergonha, no entanto sabia que a mãe piorava, as cenas sucediam-se no chalé. Era isso o colégio? Era essa a proteção de Nossa Senhora a quem pedira, uma noite, que o mandasse embora de Cachoeira? E se lembrou da história da folha de lilás. Ia agora sem dinheiro e sem bênção.
— Mamãe, eu entro para a escola do professor, mas noutra semana.
Na outra semana, estaria longe.
— Mas ainda é preciso você falar com ele.
— Eu, mamãe? Por que papai não fala?
— Seu pai, logo seu pai, logo seu pai... Seu pai está fazendo a lei do município. O resto do tempo é escrever o pedido de uma tipografia inteira que encontrou no catálogo. E sabe que seu pai sai daqui para a Intendência e da Intendência pra cá...
— E a tipografia vem?
— Vem como o dinheiro que a irmã dele gastou à custa de Marialva. Simples sonho. Não sabia que seu pai vive sonhando?
E como você não quer ir, posso falar eu mesma com o professor.
E talvez hoje.
Aqui o menino arregalou os olhos e falou precipitadamente:
— Não, não. Deixe que eu vou. E vou. Depois ele manda a conta, não é? Dez mil-réis por mês?
— Por que você não quer que eu vá? Seu pai não sabe ainda, mas você fala em nome de seu pai. Por que você não quer que eu vá?
— Mas eu disse que não queria?
Fitaram-se numa mutua interpelação. O olhar de menino, no [289] entender de d. Amélia, era um misto de receio e acusação, vexame e pedido de desculpa.
— Você já foi visitar a nhá Lucíola? Adoeceu ontem. Uma dor do lado. Nunca mais você foi depois do passeio na carruagem real... Depois ela espalha que sou eu que não lhe quero lá...
Nisto, entrou Andreza e foi para Alfredo o momento de mostrar-se carinhoso com a mãe diante da menina. Inclinou-se e quis beijá-la no rosto. D. Amélia recuou, sorrindo, um pouco vexada. O menino viu que os olhos dela eram pretos e não pretos, cor das cobras que vira dentro d’água. E disse que eram bonitos os seus olhos e insistiu em beijar-lhe a testa lisa de um escurume macio. Andreza parecia surpreendida. Alfredo olhava-a de soslaio. foi — Espera, hum, por que essa lembrança, então? Você nunca carinhoso assim, que foi isso? Acho esquisito que você se apressasse a ir falar com o professor só porque eu disse que eu ia.
O filho piscou-lhe para advertir que não estavam sós e o fez de modo que Andreza percebesse. Esta não se dava por achada, a saracotear pela varanda, cantarolando. Quando os viu calados, voltou-se:
— D. Amélia, também me admira tanto carinho... Será que vai embora?
— Como vai embora Andreza?
— A senhora já arranjou o colégio pra ele?
— D. Amélia calou-se, a menina sentou-se no soalho e Alfredo, quase assustado, disfarçou a sua inquietude pegando a ponta da orelha da mãe que foi torcendo devagarinho e deitou a cabeça no colo dela. Perguntou quando furara as orelhas, se havia doído muito, se se lembrava do primeiro brinco, porque agora não usava e se esperava furar as de Mariinha. E afagava-a com tristeza secreta, com o amargor da despedida sem adeus, sem bênção e se espreguiçou a seus pés, como submisso e pronto a confessar-lhe tudo. Mas reagiu. Ergueu-se com a visão das noites em que a mãe lançava gritos e batia os pés no soalho. De novo, para esconder ainda mais o seu plano de fuga, voltava aos seus fingimentos, alisando o pescoço dela, tão preto e tão macio. Deu com um sinalzinho empolado que ele gostaria de tirar com um só corte de navalha. [290] Retirou o pente coque dos cabelos, os grampos...
— Meu filho, você despenca todo o meu cabelo. Já basta que ele é tão nhã...
Era como se lhe dissesse adeus, pedindo-lhe que se curasse, não fizesse mais aquilo, não deixasse que aquela menina, a Andreza, zombasse dela.
D. Amélia olhava para Andreza e sorria. A menina cantarolava para disfarçar o seu despeito. Que poderei fazer, meu Deus, foi o pensamento de Amélia, lembrando-se de Mariinha, sentindo o filho, mudado, que se demorava a olhá-la, a examinar-lhe o rosto, a boca, os olhos cor das cobras, a testa, como se lhe examinasse a consciência.
Alfredo deixou-a para sentar no peitoril da janela. Apoiando a mão no caixilho de cima, permaneceu de perfil. A d. Amélia pareceu ele tão crescido, tão diferente, quase desconhecido, com a luz em cheio no rosto. Ali estava o seu único filho.
— Meu filho, você precisa cortar o cabelo, senão embarca no navio dos cabeludos.
— Vou, mamãe. Vou embarcar, sim, no navio dos cabeludos. E sentiu-se mal, zombando de sua mãe, mas era necessário partir e fazer com que ela compreendesse a necessidade de “curar-se” para recuperá-lo.
Andreza era uma abandonada no meio do soalho.
Alfredo ficou de pé na janela e estendeu o braço em direção da mãe que correu para ele, tirou-o daquela posição, segurando-o pelas axilas.
— Você podia cair. Viu como posso ainda carregar um filho?
— D. Amélia — falou Andreza — a senhora não me disse que ia à sepultura de Mariinha?
— E, sim. Você meu filho, vai falar com o professor e pode nos pegar ainda no caminho, não? A cruz está pronta. Raul pintou.
— Não, mamãe. Não vou.
Não queria fingir em presença de Mariinha. Também não sabia se despedir da irmã que lhe poderia dizer, se pudesse: que tu vais fazer, mano? Tu não deves fugir. Olha o castigo...
E ouvia a voz da velha na história da folha do lilás: pedra há de ser.
[291] Tornou-se covarde e sem razão, na sua amargura. Que importava a partida se estava sem sua irmã?
D. Amélia debruçou-se à janela, pensativamente, sobre o quintal. O ingazeiro pendurava os seus primeiros ingás maduros. Junto à cerca, um resto de bruxa, com as tripas de fora, a velha bruxa de Mariinha de há quanto tempo. Alfredo olhou para a mãe. Se aquela calma perdurasse teria certeza de que em breve ela compreenderia a sua partida. Tudo mudaria se, em vez da fuga, se aproximasse dela e pedisse:
— Mamãe, pelo amor de Mariinha, não faça mais.
Mas estava seguro de que ela se voltaria, bruscamente, metendo a ponta do charuto entre os cabelos, perguntando com rispidez:
— Não faça mais o quê?
E assustou-se diante de Andreza que o espiava.
— Você não vai ver nhá Lucíola? Sua mãe não lhe pediu para ir ver? Que que tu tem que não fala mais comigo?
E ela acrescentou, baixinho:
— Não te tomei tua mãe, nem a nhá Lucíola. Não sou culpada...
— Eh! Te perguntei alguma coisa?
E Alfredo saiu para visitar Lucíola.
Atravessou a escuridão do quarto e encontrou, estendida na rede, a mão dela, de sebo, fria.
— Dadá, traz a luz que está muito escuro — disse Lucíola num gemido.
Queria vê-lo à luz do candeeiro. Aquela visita era como um deslumbramento. Alfredo não dizia nada. Visitava-a pela última vez, liberto para sempre dela. Como Dadá não viesse, Lucíola achou melhor estar com ele na obscuridade. Poupava-se de vê-lo naturalmente constrangido, fazendo aquela visita por um descargo de consciência. Também ele deixaria de vê-la, tão amarela, tão cheia dele, porque não podia ocultar o seu deslumbramento.
Ela preferia dizer:
— Meu filho, você se lembrou de mim. Isto me fez melhor.
[292] — No entanto, limitou-se a falar assim: Foi uma dor aqui do lado. Sabe que o dr. Edmundo veio visitar-me? Esteve aqui. Fez três visitas. Até jogou a noite passada com Didico e Saiu. E você como vai de estudo?
— Bem. Já vou.
— Já vai? Ó Dadá, não trouxeste a luz? Por onde anda essa Dadá, meu Deus...
— Vou ver. Eu chamo.
— Não, não. Fique. Posso ver seu rosto bem. Quem sabe se essa dor não me leva... Está mais magro, mais gordo? Não sentiu nada, nada? Ah, meu filho, se eu tivesse o dinheiro de que você precisa para seguir... A menina cega não curou a vista?
— Como a senhora soube?
— Rodolfo. Sente na esteira. Ó Dadá...
— Já vou. Vim saber como a senhora estava. Mamãe me mandou. Depois, podiam dizer que mamãe me proibiu de vir aqui... Foi ela que me mandou.
Disse e saiu correndo. Lucíola continuava a chamar Dadá.
— A luz, Dadá, a luz.
Alfredo parou no caminho do chalé e compreendeu que procedera mal. Para quem se arriscava a uma viagem e tinha todos os perigos à frente, sem levar a bênção dos pais, era necessário, refletiu ele, parecer bom, ter paciência. Já bastava aquele fingimento todo com a mãe, aqueles disfarces. E temia Andreza, que punha sobre ele aqueles olhos de areia gulosa.
Retrocedeu e subiu a escada da casa velha. Dentro, no silêncio, um vumvum zumbindo pela parede. S. Expedito olhava-o. Procurou a jibóia pelo teto. Espiou pela porta do quarto. A mesma escuridão, o mesmo silêncio. E logo atrás de si as palavras de
Dadá:
— Espiando a casa alheia? Espiando o quê? Você não passa é de um menino ingrato. Nós a bem dizer te criamos, te criamos. Lucíola é uma coitada mesmo.
Alfredo recuou, de olhar aceso:
— Espinhenta de uma figa.
— Espera, seu tratantezinho.
[293] Lucíola já estava entre os dois, protegendo o menino. Surgira de anágua, alta, macilenta, cabelos soltos.
Alfredo desvencilhou-se das mãos de Lucíola, que tombou no soalho. Dadá deu um grito, O menino escapou-se.
D. Amélia veio correndo do chalé e pôde ainda ajudar a Dadá a levar a irmã à rede. O filho, no meio da rua, disse que ia falar com o professor.
— Não foi nada — murmurou Lucíola — não foi nada. Caí. Alfredo assustou-se e fugiu, coitadinho.
Dadá não falou temendo a reação de d. Amélia. Depois que esta saiu, contando que ia ao cemitério, desforrou-se com a irmã numa áspera discussão.
Achou estranho que, ao entrar no cemitério, não sentisse o que esperava por Mariinha. Falara ao professor sobre as aulas com a mesma dissimulação, certo de que, em vez de entrar na escola, já saía. E ao sair, para logo esquecer aquela nova falta, viera correndo pelo campo atrás da mãe, Leônidas e Andreza.
Eram cinco da tarde. Trazia boa impressão do professor, seco e sombrio na aparência, a voz asperamente surda, mas compreensiva. Um ar engraçado nos olhos, no arquear da sobrancelha, na maneira de assobiar curto e distraído. Esteve quase para lhe confessar os seus planos, convicto de que aquele homem ou não acreditava ou guardaria segredo, tal a confiança súbita que lhe inspirou. E agora pelos campos, sentiu o perigo que correu. Não podia confiar em ninguém e a vigilância contra Andreza deveria ser redobrada.
Entrou com cautela para não pisar nas sepulturas quase desfeitas, sem emoções, apenas cansado, procurando a mãe. Com aquele maciço arvoredo ao fundo, o cemitério assemelhava-se a um roçado. Ouviu o chamado de Andreza metida entre as plantas que se inclinavam sobre uma laje escura. Alfredo considerou mais uma vez a falta de respeito da menina. Sempre falando alto, como se estivesse em sua casa. Ah, também vivia assim, porque não tinha nada em sua consciência. Andreza podia fazer o que queria, [294] mostrava logo o que era. E ele? Sentiu-se então mais despeitado, mais triste, mais só, com maior e mais desesperada força de abandonar o chalé.
A mãe, agachada à sepultura da filha, plantava um pé de roseira. Entre as cruzes velhas e partidas, cinzentas e sem braços que ali se erguiam sem dizeres, com um e outro nome legível, destacava-se a cruz de Mariinha pintada de azul. A tarde desceu com uma luz mais viva que encheu os campos, derramou-se nos bosques, banhou o cemitério, dourando as aves que passavam. O chão estava morno, as cruzes aquecidas, algumas árvores cobriam-se de flor.
Um obscuro pensamento lhe mostrava Mariinha desfazendo-se na luz da tarde. As arvores mais altas se iluminavam violentamente e todos os recantos se inundavam do silêncio e do mistério que enchiam o menino. Este via a mãe espalhar flores sobre a sepultura de Eutanázio e mostrar com um gesto as frescas e numerosas sepulturas de crianças, mortas depois de Mariinha. Leônidas balançou a cabeça, passou a mão na boca e indicou outro trecho adiante povoado de anjos. Logo foi a atenção do menino dominada pelo que fazia Andreza: tentava ela agarrar um dos passarinhos que pulavam pela cerca. Em seguida, coçou a perna que tocara num pé de urtiga.
Arre!, murmurou Alfredo, torcendo para que a coceira da urtiga cobrisse o corpo inteiro da menina. Um canto de ave, triste, desceu do arvoredo, canto de ave que o menino desconhecia.
D. Amélia e Leônidas saíram e os dois meninos ficaram decifrando os epitáfios. Alfredo, diante da sepultura de Mariinha, ensaiou dizer-lhe adeus. E Andreza perguntou-lhe se estava rezando.
— Estou.
Continuaram a decifrar os epitáfios. Em que sepultura estaria o filho da nhá Porcina que morreu naquela noite de chuva nas mãos de d. Amélia?
— Se eu estivesse numa dessas, disse Andreza, tu vinhas me trazer flores, na certa. Não?
— Te mata logo e te enterra, se queres.
— Ah, era o que tu querias. Era. Pensa que não sei? Mas se eu morrer primeiro do que tu, minha visagem não há de sair de [295] cima de rua rede.
Alfredo viu naquelas palavras mau presságio. Andreza ousou passar-lhe o braço pelas costas, achegou-se a ele que já lhe sentia a respiração na face. Ela ia beijá-lo e recuou subitamente. Afastou-se, circulando o olhar espantado pelas sepulturas.
Alfredo, imóvel, com aquele sopro quente no rosto, via a iluminação das árvores pelo crepúsculo, fingindo-se indiferente aos movimentos da amiga. Seu coração batia como nunca. A voz de Andreza, já distante — como lhe pareceu distante — chamava-o. Subia das árvores, embebia-se na luz, nas nuvens pesadas de fogo. Chamava-o, chamava-o. Misturava-se no grito arisco dos pássaros, fazia emudecer o canto da ave desconhecida, a visão de Belém à frente do barco de velas ainda levantadas. Tinha o calor do crepúsculo, do chão onde os calangos fugiam escondendo-se nas moitas. Essa voz lançava-o numa pungente e secreta exaltação.
— Anda, Alfredo. Que você tem? Os dois vão longe.
Ela encostou o portão do cemitério e foi caminhando ao lado do amigo, silenciosamente. A primeira sombra espalhou-se nos campos, alisando os capinzais, as ervas brabas, os rasteiros espinhos e as murchas flores da batatarana.
Longe iam d. Amélia e Leônidas, como dois desconhecidos que poderiam desaparecer de repente num redemoinho de luz e de poeira, densa poeira das cores do céu abrasado. As sombras no chão e o silêncio os distanciavam ainda mais entre as árvores, como aquelas nuvens na já amortecida claridade de cima do arvoredo de onde vinha o primeiro pio noturno.
Andreza caminhava de vista baixa, a mão segura na fita cor-de-rosa da cabeça.
Fitaram-se, perturbados. Andreza não sustentou por muito tempo o olhar. A fita desatou-se, um cacho do cabelo caiu-lhe sobre a testa e Alfredo apressou os passos. Foi então que ela o deteve, tomou-lhe a frente, inclinou a cabeça para trás e olhou Alfredo bem nos olhos, prendendo-lhe a mão à sua com a fita:
— Tu viste, tu viste, disse depressa, que pecado eu ia fazendo?
E correu ao chamado de d. Amélia na direção dos fogos do poente que incendiavam Cachoeira.
[296]
9
Alfredo saltou com um estremecimento que era também de surpresa e de irresolução. A lancha apitava, tinha se antecipado em muitas horas.
Correu para a moita de capim onde escondera o embrulhinho de roupa. Subiu ao chalé para calçar os sapatos, sem ver o pai que se embalava e a mãe acuada na cozinha. Alisou o livro de capa vermelha que levava, o livro da mitologia, para vender caso fosse necessário.
Ao passar correndo pela casa de Lucíola, um impulso o levou a entrar e dizer-lhe, arquejante;
— A senhora... a senhora... tem aí cinco mil-réis. É pra mamãe... Não, não é. E pra mim mandar buscar uma coisa nessa lancha...
— Espere... Parece que vi dinheiro no bolso de Didico.
Lucíola apalpou os bolsos do paletó afobadamente e achou uma nota de cinco, muito velha, emendada em papel de abade. Alfredo saiu sem despedir-se nem agradecer, afoito, correndo.
Chegando ao trapiche parecia que havia subido uma escada muito alta.
A lancha atracada soltava vapor e a seu lado os dois barcos se assemelhavam a navios de grandes mastros.
Pulou na lancha, varou entre o cordame do primeiro barco e ocultou-se na sombra da verga do segundo. O cheiro do vapor, das velas e dos bois que vinham dos barcos atordoou-o. Um tripulante no toldo arranhava um cavaquinho. Rápido Alfredo deslizou para o bailéu onde se escondeu atrás de uns sacos, embrulhando-se numa velha bujarrona.
[297] Ficou ouvindo os carapanãs e a ruminação dos bois. Um destes se debatia com estrondo no porão sob o grito dos tripulantes que tentavam levantá-lo, O fedor dos excrementos cresceu e uma fadiga imensa se apoderou do menino, uma vontade de adormecer de súbito, perder a noção de tudo até que alguém de cima gritasse: lá está a caixa d’água, é Belém.
Principiou a rezar para que a lancha largasse depressa. Apalpou no bolso os cinco mil-réis furtados do chalé e a cédula velha de Lucíola. Esquecera a medalha que Andreza lhe dera. Poderia venda-la na cidade junto com o livro da mitologia. No bolsinho do. blusa, o retrato da mãe que também furtara. Como a lancha demorava...
Passou-se infinitamente meia hora. De repente o apito, o menino ergueu a cabeça, escutando. A lancha desatracou, lenta e resfolegante, vozes nos barcos, barulho dos bois, um som de cavaquinho.
No rio, muito raso, a “Lima Júnior” avançava cautelosa, ronceira como era, com o seu café com pão, bolacha não, café com pão, bolacha não, rebocando os dois barcos pesados. Alfredo sentia em seus nervos o vagar arrastado da lancha, revolvendo a impaciência e a ansiedade do fugitivo que os mosquitos e o calor atormentavam.
Deveria estar passando — mas vagarosamente — defronte do chalé quando ouviu gritos, brusco sinal para parar a lancha, vozes de cima dos toldos e novos gritos sucederam-se. Um movimento pelos barcos, tripulantes com faróis na mão saltavam pelo convés por entre os bois, a camarinha, o bailéu... Alfredo enrolou-se mais na bujarrona, tremendo. E aí foi encontrado.
A luz dos faróis sobre o toldo foi ele mostrado às pessoas que gritavam e bracejavam na margem ao clarão de um candeeiro. O menino pôde ver, como avançando para ele, o chalé com os seus quatro olhos sombrios. E ouviu então nitidamente os brados da mãe que ia e vinha como se fosse atirar-se da beirada.
— Meu filho. Tragam meu filho.
A esses gritos, os tripulantes respondiam em voz baixa com gracejos obscenos e uma montaria encostou à popa do barco de [298] onde Sebastião apanhou o menino que, apático, insensível, passou para a embarcação pela mão de Rodolfo. Logo que a montaria se afastou, a lancha seguiu, desta vez com surpreendente velocidade com os dois barcos, os tripulantes gritavam adeus até a curva do estirão.
Ao voltar à beirada, Sebastião confiou o sobrinho a Rodolfo e Leônidas, a fim de socorrer a irmã que tombava pelo algodoal bravio.
Andreza, transfigurada pelo medo, recostava-se no tronco da Folha Miúda, vendo o menino entre os dois homens, a caminhar, silencioso. Atrás surgia Sebastião com o corpo inanimado de d. Amélia.
A menina deu de andar em torno da árvore, vacilante e num crescente temor.
Quando Alfredo pela mão de Rodolfo e d. Amélia carregada pelo irmão, entraram no chalé, Andreza quase soltou um grito ao ver major Alberto avançar, erguer o braço para bater no filho e logo voltar-se resmungando e cair na rede, de bruços. Foi então que ela murmurou transtornada:
— Tudo por minha... Fui eu...
Viu Sebastião deitar a irmã na cama, recompor-lhe o vestido. Parou à beira da rede onde Alfredo se atirara sob o lençol. E tudo para a menina se precipitou num repentino silêncio em que os acontecimentos se consumaram.
Ajoelhou-se, debruçou-se sobre a borda da rede e principiou a falar para o menino, num tom de queixume:
— Manozinho, tu está me escutando. Pois fui eu a culpada. Desde ontem eu maldava. Eu descobri todo o teu preparativo. Não quis te falar. Tu não podia fugir, manozinho. E fiz também por maldade... Por que tu não me avisaste antes? Se tivesse me dito, eu ia contigo, eu te ajudava. A gente sabia se esconder melhor. Dois era melhor. Eu ia... Mas tu ia fazer então o mesmo que os dois filhos mais velhos do cego fizeram? Até a medalhinha que eu te dei tu deixava. Desde ontem passei a te vigiar. Ah, ele quer me enganar? Ele quer ir só? Pois então ele me paga. Hoje não tirei o olho de cima de ti, tudo fazendo pra não ser vista. Reparaste [299] que eu não apareci nem uma vez na tua frente? Ah, tu só reparava na tua viagem, não era?
Calou-se, ofegante. Sobre o menino inerte o lençol branco. Ela não lhe ouvia nem a respiração.
— Alfredo. Alfredo. Assim tu te sufoca, manozinho. E sim... Tu estava na pontezinha... Faz mal que te conte? Tu está me escutando? Quando a lancha apitou... Tu te lembra da vez em que estavas cego? Assim tu estava ontem que nem me viste escondida na vala. E da vez que apareci na pontezinha? Agora tu espera... Agora tu fica mais um pouco... Tu queres eu trato do teu gado no tanque, sim? Vou no teu lugar comprar a carne no mercado. Fazer as compras. Que livro era que tu levava?
Queria também dizer que vigiaria os meninos e as mulheres que compravam cachaça para o chalé. Perguntar-lhe por que entrara na casa de Lucíola. Preferia calar.
Não E corri com vontade de dizer assim: me espera, Alfredo. vai agora que meu tio está cada vez mais mal... Não posso contigo agora. Ele pode morrer sem ninguém. Ao mesmo tempo queria gritar: manozinho, vou te trair, mas tu voavas no escuro. Parecia que enxergavas mais do que eu. E vi quando pulaste na lancha. De primeiro... não tive coragem pra nada-nada. Nem sabia o que fazer... Depois, te sumiste naquele barco. E foi então...
Andreza interrompeu-se com os soluços que faziam estremecer a rede. Suas lágrimas caíam sobre o lençol.
Veio o Major que a levantou em silêncio e ela soluçou mais alto para que Alfredo ao menos descobrisse a cabeça e a visse. E também para que o Major lhe desse afagos. Tinha se consumido o dia inteiro com a fuga do amigo e a doença do tio.
— Vá. Vá pra sua casa.
— Que casa... gaguejou ela. Não tenho nem uma casa. Não tenho nada, Eu tenho a culpa dele não ir. Ele não foi. Ele não foi. Ele não vai falar nunca mais comigo.
Major aconchegou-a, sentindo em suas mãos as lágrimas da menina, o pequeno coração dela batendo tanto.
Mas alguém lá fora gritou que o tio a chamava.
O doente lhe pediu uma chá que ela fez, amargo, não quisera naquela hora furtar nem pedir açúcar no chalé.
Correu para a moita de capim onde escondera o embrulhinho de roupa. Subiu ao chalé para calçar os sapatos, sem ver o pai que se embalava e a mãe acuada na cozinha. Alisou o livro de capa vermelha que levava, o livro da mitologia, para vender caso fosse necessário.
Ao passar correndo pela casa de Lucíola, um impulso o levou a entrar e dizer-lhe, arquejante;
— A senhora... a senhora... tem aí cinco mil-réis. É pra mamãe... Não, não é. E pra mim mandar buscar uma coisa nessa lancha...
— Espere... Parece que vi dinheiro no bolso de Didico.
Lucíola apalpou os bolsos do paletó afobadamente e achou uma nota de cinco, muito velha, emendada em papel de abade. Alfredo saiu sem despedir-se nem agradecer, afoito, correndo.
Chegando ao trapiche parecia que havia subido uma escada muito alta.
A lancha atracada soltava vapor e a seu lado os dois barcos se assemelhavam a navios de grandes mastros.
Pulou na lancha, varou entre o cordame do primeiro barco e ocultou-se na sombra da verga do segundo. O cheiro do vapor, das velas e dos bois que vinham dos barcos atordoou-o. Um tripulante no toldo arranhava um cavaquinho. Rápido Alfredo deslizou para o bailéu onde se escondeu atrás de uns sacos, embrulhando-se numa velha bujarrona.
[297] Ficou ouvindo os carapanãs e a ruminação dos bois. Um destes se debatia com estrondo no porão sob o grito dos tripulantes que tentavam levantá-lo, O fedor dos excrementos cresceu e uma fadiga imensa se apoderou do menino, uma vontade de adormecer de súbito, perder a noção de tudo até que alguém de cima gritasse: lá está a caixa d’água, é Belém.
Principiou a rezar para que a lancha largasse depressa. Apalpou no bolso os cinco mil-réis furtados do chalé e a cédula velha de Lucíola. Esquecera a medalha que Andreza lhe dera. Poderia venda-la na cidade junto com o livro da mitologia. No bolsinho do. blusa, o retrato da mãe que também furtara. Como a lancha demorava...
Passou-se infinitamente meia hora. De repente o apito, o menino ergueu a cabeça, escutando. A lancha desatracou, lenta e resfolegante, vozes nos barcos, barulho dos bois, um som de cavaquinho.
No rio, muito raso, a “Lima Júnior” avançava cautelosa, ronceira como era, com o seu café com pão, bolacha não, café com pão, bolacha não, rebocando os dois barcos pesados. Alfredo sentia em seus nervos o vagar arrastado da lancha, revolvendo a impaciência e a ansiedade do fugitivo que os mosquitos e o calor atormentavam.
Deveria estar passando — mas vagarosamente — defronte do chalé quando ouviu gritos, brusco sinal para parar a lancha, vozes de cima dos toldos e novos gritos sucederam-se. Um movimento pelos barcos, tripulantes com faróis na mão saltavam pelo convés por entre os bois, a camarinha, o bailéu... Alfredo enrolou-se mais na bujarrona, tremendo. E aí foi encontrado.
A luz dos faróis sobre o toldo foi ele mostrado às pessoas que gritavam e bracejavam na margem ao clarão de um candeeiro. O menino pôde ver, como avançando para ele, o chalé com os seus quatro olhos sombrios. E ouviu então nitidamente os brados da mãe que ia e vinha como se fosse atirar-se da beirada.
— Meu filho. Tragam meu filho.
A esses gritos, os tripulantes respondiam em voz baixa com gracejos obscenos e uma montaria encostou à popa do barco de [298] onde Sebastião apanhou o menino que, apático, insensível, passou para a embarcação pela mão de Rodolfo. Logo que a montaria se afastou, a lancha seguiu, desta vez com surpreendente velocidade com os dois barcos, os tripulantes gritavam adeus até a curva do estirão.
Ao voltar à beirada, Sebastião confiou o sobrinho a Rodolfo e Leônidas, a fim de socorrer a irmã que tombava pelo algodoal bravio.
Andreza, transfigurada pelo medo, recostava-se no tronco da Folha Miúda, vendo o menino entre os dois homens, a caminhar, silencioso. Atrás surgia Sebastião com o corpo inanimado de d. Amélia.
A menina deu de andar em torno da árvore, vacilante e num crescente temor.
Quando Alfredo pela mão de Rodolfo e d. Amélia carregada pelo irmão, entraram no chalé, Andreza quase soltou um grito ao ver major Alberto avançar, erguer o braço para bater no filho e logo voltar-se resmungando e cair na rede, de bruços. Foi então que ela murmurou transtornada:
— Tudo por minha... Fui eu...
Viu Sebastião deitar a irmã na cama, recompor-lhe o vestido. Parou à beira da rede onde Alfredo se atirara sob o lençol. E tudo para a menina se precipitou num repentino silêncio em que os acontecimentos se consumaram.
Ajoelhou-se, debruçou-se sobre a borda da rede e principiou a falar para o menino, num tom de queixume:
— Manozinho, tu está me escutando. Pois fui eu a culpada. Desde ontem eu maldava. Eu descobri todo o teu preparativo. Não quis te falar. Tu não podia fugir, manozinho. E fiz também por maldade... Por que tu não me avisaste antes? Se tivesse me dito, eu ia contigo, eu te ajudava. A gente sabia se esconder melhor. Dois era melhor. Eu ia... Mas tu ia fazer então o mesmo que os dois filhos mais velhos do cego fizeram? Até a medalhinha que eu te dei tu deixava. Desde ontem passei a te vigiar. Ah, ele quer me enganar? Ele quer ir só? Pois então ele me paga. Hoje não tirei o olho de cima de ti, tudo fazendo pra não ser vista. Reparaste [299] que eu não apareci nem uma vez na tua frente? Ah, tu só reparava na tua viagem, não era?
Calou-se, ofegante. Sobre o menino inerte o lençol branco. Ela não lhe ouvia nem a respiração.
— Alfredo. Alfredo. Assim tu te sufoca, manozinho. E sim... Tu estava na pontezinha... Faz mal que te conte? Tu está me escutando? Quando a lancha apitou... Tu te lembra da vez em que estavas cego? Assim tu estava ontem que nem me viste escondida na vala. E da vez que apareci na pontezinha? Agora tu espera... Agora tu fica mais um pouco... Tu queres eu trato do teu gado no tanque, sim? Vou no teu lugar comprar a carne no mercado. Fazer as compras. Que livro era que tu levava?
Queria também dizer que vigiaria os meninos e as mulheres que compravam cachaça para o chalé. Perguntar-lhe por que entrara na casa de Lucíola. Preferia calar.
Não E corri com vontade de dizer assim: me espera, Alfredo. vai agora que meu tio está cada vez mais mal... Não posso contigo agora. Ele pode morrer sem ninguém. Ao mesmo tempo queria gritar: manozinho, vou te trair, mas tu voavas no escuro. Parecia que enxergavas mais do que eu. E vi quando pulaste na lancha. De primeiro... não tive coragem pra nada-nada. Nem sabia o que fazer... Depois, te sumiste naquele barco. E foi então...
Andreza interrompeu-se com os soluços que faziam estremecer a rede. Suas lágrimas caíam sobre o lençol.
Veio o Major que a levantou em silêncio e ela soluçou mais alto para que Alfredo ao menos descobrisse a cabeça e a visse. E também para que o Major lhe desse afagos. Tinha se consumido o dia inteiro com a fuga do amigo e a doença do tio.
— Vá. Vá pra sua casa.
— Que casa... gaguejou ela. Não tenho nem uma casa. Não tenho nada, Eu tenho a culpa dele não ir. Ele não foi. Ele não foi. Ele não vai falar nunca mais comigo.
Major aconchegou-a, sentindo em suas mãos as lágrimas da menina, o pequeno coração dela batendo tanto.
Mas alguém lá fora gritou que o tio a chamava.
O doente lhe pediu uma chá que ela fez, amargo, não quisera naquela hora furtar nem pedir açúcar no chalé.
[300]
10
Como para escapar àquelas semanas e a seus piores pensamentos, Alfredo refugiava-se no pequeno tanque debaixo do chalé. Numa tarde de outubro, resolveu retirar todo o “gado”, de caroços de tucumã e inajá, do tanque e enchera este de água trazida do poço num velho e pesado balde.
O tanque cheio refletiu o seu rosto magro, os olhos muito abertos, refletindo também a solidão, a vergonha dos fracassos, a fadiga, depois de tantas tentativas secretas para viajar sem Andreza. Esta não o deixava, era a espiã obstinada. Partiria, sim, mas com ela.
— Se tu não leva nem bênção nem dinheiro, ao menos me leva. Fez barquinhos de papel flutuarem em varias e misteriosas direções. Para onde iriam? Não tinham saídas nem portos para ancorar, a não ser que mergulhassem por dentro da terra e saíssem depois lá no rio.
Agora a água parada refletia o fundo do soalho, as tábuas ásperas, nas frestas cresciam teias de aranha, corriam formigas, havia manchas de carunchos e indícios de cupim.
Um ruído lá de cima chamou-lhe a atenção. Passos da mãe no corredor, ligeiros passos de Andreza talvez, o lento caminhar do pai. Encostou o rosto ao esteio, inclinando o ouvido, atento.
Os passos da mãe eram ainda naquela tarde normais. Calmos. Bateu de leve para saber se alguém de cima escutava. Bateu fortemente e um som fundo respondeu. Era Andreza. A menina começou a gritar através do soalho.
Naturalmente estirada, de pernas abertas. Tentou espiar pela [301] fresta. Não viu nada. Andreza batia e chamava. Ali estava ela. Vira, havia pouco, a mãe furar-lhe as orelhas com a agulha virgem, enfiar o fio, dar o nozinho da linha... A menina mordia os beiços sem um ai. A mãe colocou-lhe os brincos. Para essa vaidade, não tinha dor aquela acesa. Na véspera, surpreendera-a, no curral do seu Luiz Seixas, tentando mamar no ubre da Diamantina, uma vaca das mais mansas que se podia conhecer em Cachoeira. E o José, que mungia a vaca achando uma graça:
— E uma bezerra escritinha.
Andava impossível, dona-dona do chalé. Por força queria substituir Mariinha. Estaria se prestando ao mesmo papel da Benedita, da Marcelina, da Inocência, dos moleques, em trazer escondido aquelas garrafas para a mãe? E o certo era que não tinha coragem de interpelá-la.
Passou também a espiar a menina para saber da verdade. Nada conseguiu. Dessa espionagem inútil, saiu exausto, árido, envergonhado.
A bezerra continuava lá em cima batendo as patas no soalho.
Por fim, silêncio.
Alfredo supôs que era a revelação do mistério lá em cima. Mas nem um movimento de curiosidade o arrancou do lugar. Voltaram os passos pelo corredor. Toda aquela ressonância do soalho impregnava-se de vozes extintas, rumores de outro tempo, alegres risadas da mãe, louça quebrando nos dias felizes, seus próprios passos quando criança, sentimentos de uma época obscura, desfeita na memória, passos e tombos de Mariinha, ruído numeroso que se precipitou como pedras caindo de muito alto num poço fundo.
Assustou-se ao ouvir a voz de Andreza que, entre os degraus da escada da cozinha, acenava:
— Mano, vem saber, depressa. Sua mãe descobriu. É verdade. Alfredo abriu o tanque, a água foi escoando como de sua alma se escoavam os sonhos e os desejos naquela tarde. Não ligou aos apelos de Andreza, contudo atento aos novos passos que se multiplicavam lá em cima.
[302] D. Amélia, que recebera a notícia de sua comadre Marcelina, não pudera acreditar.
— Não, comadre. A senhora me desculpe. Esta a senhora engoliu, mas sua comadre, não. Vá daqui com suas histórias, comadre.
D. Amélia virou-se para a banda da tipografia:
— E Rodolfo que não apareceu hoje, hein?
— Pra senhora ver, comadre. Por que ele não apareceu? Se a notícia fosse dos outros, ele estava aqui fiche, madrugando, acordando a senhora.
— Não venha com essas razões, comadre. A senhora foi que sonhou.
D. Amélia chamou o filho e lhe pediu que fosse à casa de Lucíola para ouvir o que falavam por lá.
— Ouvir o que? O que, mamãe? A senhora já deu até pra isso? Não sou espião.
Alfredo enrugou a cara, a mãe riu como há muito não ria e Andreza fingia que não escutava.
— Bem, mea comadre, como a senhora disse que ouviu isso na taberna do seu Saiu, vou sondar. Saiu, coitado, talvez nem saiba. Quando não está de olho pregado no romance, está dando pancada naquele filho que nunca se emenda. Sua taberninha vai por água abaixo. O povo também cada vez mais necessitando e comprando menos. Mas eu vou lá. Se foi mesmo na casa do seu Saiu que a senhora ouviu, eu jogo uma verde e colho uma bem madurinha. Tu queres ir comigo, Andreza?
Andreza olhou para Alfredo, deu um pulo no banco e fez adeusinhos a d. Marcelina.
— Então vamos, sua maluca, decifrar este mistério.
— Que mistérios, que mistérios o Saiu pode ter pra contar?
Foi a interpelação brusca de Alfredo, batendo um lápis na ponta da mesa no propósito de quebrá-lo pelo meio.
D. Amélia sorriu, enigmática. Convidou-o, fosse com elas duas, que saberia. Ele recusou-se com um gesto, iria se Andreza ficasse, falou consigo. E logo continuou a bater o lápis, furiosamente, resmungando: mistérios, mistérios. Sei os mistérios.
[303] D. Amélia aproximou-se dele, indagativa. Andreza saltou para o lado do menino.
— Meu filho, você precisa... Que era que você queria dizer? e Alfredo quebrou o lápis. Andreza segurou o braço de d. Amélia disse:
— Ande, senão outros sabem primeiro.
D. Amélia voltou da taberna como fora e isto criou, de fato, o mistério. Havia de ser alguma coisa verdadeira. Completa mentira não era. Um boato por simples troça. Pelo menos queria saber de onde surgia a pilhéria. E estranhou que o Major tivesse uma sesta tão comprida naquela tarde.
Major Alberto saíra do quarto, com os jornais lidos, parecia sufocado de notícias, de acontecimentos, a quem transmiti-las? Suas relações com d. Amélia melhoravam nos últimos dias, mas não a ponto de sustentarem uma conversação de meia hora. E o pior foi que ele trouxera o mistério consigo ao voltar da Intendência, sestara, ficara lendo os jornais, quase o esqueceu. Houve um instante que a confecção tipográfica dos cartões que comunicava o mistério o preocupou mais do que a surpreendente novidade. Por isso manuseou alguns catálogos, examinou os tipos, estudou alguns modelos.
E compreendeu que o chalé farejava a novidade, viu d. Amélia lúcida, viu Andreza, o ar suspenso do chalé naquela hora ainda quente.
Passeou pela varanda, com a delícia de prolongar até a noite aquela curiosidade. Logo d. Amélia notou que havia em seus olhos, em sua cuíra, algo para contar.
Parou, afinal, diante dela, com timidez, para dizer-lhe:
— A Revolução na Rússia não será mais derrotada. Os maximalistas estão ganhando batalhas e batalhas. E, psiu... em Portugal explodiu mais uma foguetaria. Que diabo. E sempre esta a noticia que vem de Portugal. Explosões de foguetarias. Que fogueteiros aqueles! Eu, psiu, com muitos anos lidando com fogos so uma vez queimei a mão. Mas em Portugal explode tudo... Que diabo...
— Mas seu Alberto, você está com uns ares meio [304] misteriosos... Se você tem alguma novidade pra dizer, desembuche logo, ora esta... Pensa que já não sei?
— Ah, sim. Ia esquecendo.
Então, major Alberto, com o seu riso em que fechava os olhos, retirou do bolso o original para a confecção de cinqüenta cartões de comunicação a serem feitos dentro de uma semana:
O tanque cheio refletiu o seu rosto magro, os olhos muito abertos, refletindo também a solidão, a vergonha dos fracassos, a fadiga, depois de tantas tentativas secretas para viajar sem Andreza. Esta não o deixava, era a espiã obstinada. Partiria, sim, mas com ela.
— Se tu não leva nem bênção nem dinheiro, ao menos me leva. Fez barquinhos de papel flutuarem em varias e misteriosas direções. Para onde iriam? Não tinham saídas nem portos para ancorar, a não ser que mergulhassem por dentro da terra e saíssem depois lá no rio.
Agora a água parada refletia o fundo do soalho, as tábuas ásperas, nas frestas cresciam teias de aranha, corriam formigas, havia manchas de carunchos e indícios de cupim.
Um ruído lá de cima chamou-lhe a atenção. Passos da mãe no corredor, ligeiros passos de Andreza talvez, o lento caminhar do pai. Encostou o rosto ao esteio, inclinando o ouvido, atento.
Os passos da mãe eram ainda naquela tarde normais. Calmos. Bateu de leve para saber se alguém de cima escutava. Bateu fortemente e um som fundo respondeu. Era Andreza. A menina começou a gritar através do soalho.
Naturalmente estirada, de pernas abertas. Tentou espiar pela [301] fresta. Não viu nada. Andreza batia e chamava. Ali estava ela. Vira, havia pouco, a mãe furar-lhe as orelhas com a agulha virgem, enfiar o fio, dar o nozinho da linha... A menina mordia os beiços sem um ai. A mãe colocou-lhe os brincos. Para essa vaidade, não tinha dor aquela acesa. Na véspera, surpreendera-a, no curral do seu Luiz Seixas, tentando mamar no ubre da Diamantina, uma vaca das mais mansas que se podia conhecer em Cachoeira. E o José, que mungia a vaca achando uma graça:
— E uma bezerra escritinha.
Andava impossível, dona-dona do chalé. Por força queria substituir Mariinha. Estaria se prestando ao mesmo papel da Benedita, da Marcelina, da Inocência, dos moleques, em trazer escondido aquelas garrafas para a mãe? E o certo era que não tinha coragem de interpelá-la.
Passou também a espiar a menina para saber da verdade. Nada conseguiu. Dessa espionagem inútil, saiu exausto, árido, envergonhado.
A bezerra continuava lá em cima batendo as patas no soalho.
Por fim, silêncio.
Alfredo supôs que era a revelação do mistério lá em cima. Mas nem um movimento de curiosidade o arrancou do lugar. Voltaram os passos pelo corredor. Toda aquela ressonância do soalho impregnava-se de vozes extintas, rumores de outro tempo, alegres risadas da mãe, louça quebrando nos dias felizes, seus próprios passos quando criança, sentimentos de uma época obscura, desfeita na memória, passos e tombos de Mariinha, ruído numeroso que se precipitou como pedras caindo de muito alto num poço fundo.
Assustou-se ao ouvir a voz de Andreza que, entre os degraus da escada da cozinha, acenava:
— Mano, vem saber, depressa. Sua mãe descobriu. É verdade. Alfredo abriu o tanque, a água foi escoando como de sua alma se escoavam os sonhos e os desejos naquela tarde. Não ligou aos apelos de Andreza, contudo atento aos novos passos que se multiplicavam lá em cima.
[302] D. Amélia, que recebera a notícia de sua comadre Marcelina, não pudera acreditar.
— Não, comadre. A senhora me desculpe. Esta a senhora engoliu, mas sua comadre, não. Vá daqui com suas histórias, comadre.
D. Amélia virou-se para a banda da tipografia:
— E Rodolfo que não apareceu hoje, hein?
— Pra senhora ver, comadre. Por que ele não apareceu? Se a notícia fosse dos outros, ele estava aqui fiche, madrugando, acordando a senhora.
— Não venha com essas razões, comadre. A senhora foi que sonhou.
D. Amélia chamou o filho e lhe pediu que fosse à casa de Lucíola para ouvir o que falavam por lá.
— Ouvir o que? O que, mamãe? A senhora já deu até pra isso? Não sou espião.
Alfredo enrugou a cara, a mãe riu como há muito não ria e Andreza fingia que não escutava.
— Bem, mea comadre, como a senhora disse que ouviu isso na taberna do seu Saiu, vou sondar. Saiu, coitado, talvez nem saiba. Quando não está de olho pregado no romance, está dando pancada naquele filho que nunca se emenda. Sua taberninha vai por água abaixo. O povo também cada vez mais necessitando e comprando menos. Mas eu vou lá. Se foi mesmo na casa do seu Saiu que a senhora ouviu, eu jogo uma verde e colho uma bem madurinha. Tu queres ir comigo, Andreza?
Andreza olhou para Alfredo, deu um pulo no banco e fez adeusinhos a d. Marcelina.
— Então vamos, sua maluca, decifrar este mistério.
— Que mistérios, que mistérios o Saiu pode ter pra contar?
Foi a interpelação brusca de Alfredo, batendo um lápis na ponta da mesa no propósito de quebrá-lo pelo meio.
D. Amélia sorriu, enigmática. Convidou-o, fosse com elas duas, que saberia. Ele recusou-se com um gesto, iria se Andreza ficasse, falou consigo. E logo continuou a bater o lápis, furiosamente, resmungando: mistérios, mistérios. Sei os mistérios.
[303] D. Amélia aproximou-se dele, indagativa. Andreza saltou para o lado do menino.
— Meu filho, você precisa... Que era que você queria dizer? e Alfredo quebrou o lápis. Andreza segurou o braço de d. Amélia disse:
— Ande, senão outros sabem primeiro.
D. Amélia voltou da taberna como fora e isto criou, de fato, o mistério. Havia de ser alguma coisa verdadeira. Completa mentira não era. Um boato por simples troça. Pelo menos queria saber de onde surgia a pilhéria. E estranhou que o Major tivesse uma sesta tão comprida naquela tarde.
Major Alberto saíra do quarto, com os jornais lidos, parecia sufocado de notícias, de acontecimentos, a quem transmiti-las? Suas relações com d. Amélia melhoravam nos últimos dias, mas não a ponto de sustentarem uma conversação de meia hora. E o pior foi que ele trouxera o mistério consigo ao voltar da Intendência, sestara, ficara lendo os jornais, quase o esqueceu. Houve um instante que a confecção tipográfica dos cartões que comunicava o mistério o preocupou mais do que a surpreendente novidade. Por isso manuseou alguns catálogos, examinou os tipos, estudou alguns modelos.
E compreendeu que o chalé farejava a novidade, viu d. Amélia lúcida, viu Andreza, o ar suspenso do chalé naquela hora ainda quente.
Passeou pela varanda, com a delícia de prolongar até a noite aquela curiosidade. Logo d. Amélia notou que havia em seus olhos, em sua cuíra, algo para contar.
Parou, afinal, diante dela, com timidez, para dizer-lhe:
— A Revolução na Rússia não será mais derrotada. Os maximalistas estão ganhando batalhas e batalhas. E, psiu... em Portugal explodiu mais uma foguetaria. Que diabo. E sempre esta a noticia que vem de Portugal. Explosões de foguetarias. Que fogueteiros aqueles! Eu, psiu, com muitos anos lidando com fogos so uma vez queimei a mão. Mas em Portugal explode tudo... Que diabo...
— Mas seu Alberto, você está com uns ares meio [304] misteriosos... Se você tem alguma novidade pra dizer, desembuche logo, ora esta... Pensa que já não sei?
— Ah, sim. Ia esquecendo.
Então, major Alberto, com o seu riso em que fechava os olhos, retirou do bolso o original para a confecção de cinqüenta cartões de comunicação a serem feitos dentro de uma semana:
“LUCÍOLA SARAIVA e EDMUNDO MENESES
participam o seu noivado.”
participam o seu noivado.”
[305]
11
Edmundo vinha no seu búfalo a caminho da vila, troçando de si mesmo, daquela resolução tão inexplicável quanto súbita.
Não era um impulso de piedade como a princípio parecia ser. Não. Não tinha razão nem pretexto. Necessitava explicar a Lucíola que abusara de sua boa-fé, que foi um repente... Ou ausentar-se de uma vez, sem qualquer explicação?
Primeiro foram aquelas visitas a casa velha, ouvir Didico no violão ou afinando o pistão nunca limpo, o contato, pela primeira vez, com uma família do povo que se dissolvia aos poucos. Seguiu-se o jogo de cartas, a jibóia enrolada nos caibros, o gosto daquela monotonia em que escapava da avô sempre às voltas com seus fantasmas diurnos e a exigir-lhe na hora do jantar que recuperasse a fazenda.
A cada vez maior sensação de ruína de Marinatambalo aliava-se aquela casa velha de Lucíola, como se ambas as casas se fundissem nos mesmos desgostos, na mesma caliça. Afinal Lucíola havia perdido o montepio e a juventude e ele a propriedade. Riu-se dessa reflexão e do próximo e por certo ridículo momento em que revelaria o fato à avó.
Apeou ao pé do pequeno bosque espesso na baixa. Por que a pedira em casamento?
Deitou-se ao pé dos troncos, cachimbou uns minutos. Deveria era ter se educado nos igapós da fazenda, no lombo dos animais e das canoas, agüentando sol e chuva nos lavradões marajoaras, pés gretados e grossos como aqueles troncos que via encordoados pelos cipós.
[306] E voltava a reproduzir na lembrança a cena do pedido: teve aquele movimento de se aproximar da janela onde estava Lucíola, fazer-se tímido, temperar a garganta, falar, com gravidade e embaraço, de sua tristeza, de seu encontro com a ruína, da insensatez da família. Criava assim uma atmosfera de persuasão de que ela não podia fugir. Era talvez uma tentação para a piedade, para tornar-se humilde, para a renúncia, não sabia. Em suma, a busca de uma nova e qualquer condição de vida.
Mas outros sentimentos se apoderaram dele naquela hora e, extinta a piedade, ficara apenas o prazer de a torturar, de experimentá-la até o fim.
Queria casar com ela, disse-lhe, e viu-lhe a palidez do assombro, o tremor nos cantos da boca, sem saber o que fazer das mãos, o olhar de aguda suspeita. Depois, o jeito de sufocada. Isto o excitou para o crescente prazer de vê-la cada vez mais aturdida. Fingiu-se mais embaraçado, embora mais claro nos seus argumentos, sustentando o olhar dela com brandura e quase súplica.
— Deixo-a para que me responda dentro de alguns dias.
Foi tão irresistível dizer isso!
Durante a semana, não deixou de estar presente na casa de Lucíola, agora na obstinação de obter e gozar a resposta, sem que deixasse de sentir ao mesmo tempo novas e repentinas piedades. Que faria se ela aceitasse? E que faria também, com ela ou sem ela, daquele desespero que se cristalizava em sua vida?
Durante três dias ela, como na primeira hora, não lhe dissera nada.
Acreditou que Lucíola observava-o, olhando-o no fundo dos olhos, conversando sobre coisas incoerentes e remotas. Estaria sendo logrado? Seria mais esperta do que ele aquela mulher tão coisa nenhuma? Teria adivinhado intenções, reconhecido a farsa? Aqui viu em Lucíola um senso, um caráter que o surpreenderam e capitulava aceitando o acontecimento por si mesmo provocado. Com uma mulher assim na minha família, refletiu, repentina e gratuitamente, não teria perdido a fazenda.
Quando voltou ao assunto e se lamentou que ela não quisesse compreendê-lo e ver a extensão de seu infortúnio, Lucíola falou assim:
[307] — Mas se continuasse rico, tão rico como era, teria ao menos entrado em nossa casa? — Ia acrescentar: Nem agora creio que esteja falando sério, e subitamente calou-se.
Ele teve vontade de rir e repetiu a sua queixa, acrescentando que não era o caso de ser rico ou não e sim... calou-se, penso no menino que a levara à fazenda, no espanto dela ao ver a caleche no bosque, semelhante ao de agora, pedida em casamento...
Desejou que ela confessasse sinceramente que não o merecia. Gostaria disso e tudo fez para que Lucíola falasse.
No entanto, ela parecia protegida por uma calculada indiferença. Então, imprevistamente, ele propôs a confecção dos cartões, escreveu a comunicação, ao passo que ela preferiu correr a espantar as galinhas de cima da mesa na cozinha. Edmundo viu-lhe a ponta da anágua, as pernas magras, os pés encardidos.
Voltou sem fitá-lo e violentamente quis transformar-se numa bela mulher para impor-lhe condições, ou repeli-lo. Necessitava conter-se, certa de que ele lhe vira a perturbação no rosto, a vergonha infinita de tudo aquilo.
Amarrotou o cartão que ele lhe havia dado, passou novamente a ler — era uma letra de médico — baixou os olhos para a ponta da chinela cambaia e falou voltada para a parede:
— Então me peça pros meus irmãos.
Disse, já sem forças, como uma mocinha, tão infantil e desamparada ficou, a Edmundo pareceu que se tornara, de repente, bonita.
[308] Falava a si mesma: que aconteceu comigo que nem sei mesmo, meu Deus, o que faça. Não sei... Era a sua obstinada e recente indagação. Aquele pedido de casamento tinha um misto de farsa e de ultrajante piedade, logo compreendido pela perplexa suposição de que ele descobria nela a mulher que poderia salvá-lo da ruína — e mulher que ela mesma ignorava.
Para decidir-se a enfrentar os acontecimentos que julgava tão absurdos, necessitava convencer-se, fazendo surgir então de seu corpo sem privilégios a imagem da remota afinidade [308] surpreendida por Edmundo. Se lhe fosse possível trazer essa criatura à tona, estampá-la em seus gestos, em seus desejos, em sua vontade! Ficaria senhora de si mesma, acreditando no mundo — quem sabe se lhe voltaria a força da juventude desaproveitada? E ficaria pronta para seguir o homem, ou melhor, para que Edmundo a seguisse.
Deveria aceitar o casamento e vê-lo com os olhos da mulher que ele vinha encontrando nela. Com isso, seria fácil atrair Alfredo, tirá-lo de d. Amélia, levá-lo para Belém?
Dias depois essa luta entre uma informe ambição e o medo de ser vítima de uma farsa agravava-se diante do espanto, das conversas cheias de escárnio e de suposição malévola na vila inteira.
Tinha em suas mãos o cartão do noivado, diante de si os olhos embaciados de Edmundo, a insistência grave e quase tímida dele, o projeto do enxoval, os primeiros papéis do casamento pelo Didico, o silêncio de Dadá que imprevistamente nada lhe dizia, nada...
Supunha, por exemplo, que não era a mulher simplesmente honesta e caseira, a “feia com caráter” que ele escolhia naquela emergência. Se fosse apenas isto não se convenceria nem nada significaria para ela. Nesse ponto, a sua ambição se tornava nítida. Queria que a “amada” de Edmundo também correspondesse ainda que de maneira indefinida, à recordação da única e verdadeira cena de amor daquela manhã de caça e daquelas noites de Marinatambalo ao lado de Alfredo.
Principalmente a lembrança das noites de Marinatambalo lhe dava agora um instante de ordem aos seus sentimentos e pensamentos. Naquelas noites como que assistira ao nascimento de uma felicidade e ao mesmo tempo tomara parte de um velório. De um lado, o “filho” e do outro as cenas defuntas, os despojos dos vinte anos confundidos com os da fazenda, aquele jazigo que era a casa velha, a estrelinha do menino lá em cima e a nudez de Adélia Meneses. Sentia-se tão feliz quanto abandonada.
Havia apagado a luz da varanda. O vento invadia a casa, silvando pelas frestas, sussurrando pelas palhas da parede. Lucíola debruçou-se no parapeito, expondo o rosto ao vento. Aos fundos do quintal aberto, o velho cajueiro se agitava como para amadurecer os frutos.
[309] Como na noite de Marinatambalo, via-se mãe solteira, satisfeita de sua condição, do abandono em que o homem a deixava, para que o seu filho melhor a amasse. A um canto, no escuro, esse filho deveria dormir.
Mas o próprio vento lhe trazia outras vozes, o cochicho da vila, o riso de escárnio de d. Amélia, bêbada no campo, arrastando o filho pela mão, caindo nos algodoais.
Baixou a cabeça sobre o parapeito, tonta, um ardume nos lábios. Pôs-se a alisar maquinalmente o ventre frio e seco e sentiu que aquele menino era para si como a cachaça para d. Amélia. Compreendeu ainda que se tivesse um filho não o amaria tanto quanto amava Alfredo. E por que então não falaria francamente a Edmundo?
Acendeu um dos cigarros do Didico na última brasa do fogão. Era tão simples dizer “não”, de uma vez. Tudo estaria resolvido. Voltaria à mesma lavagem de pratos, à mesma erisipela, à mesma devoção de S. Expedito, guardando para sempre como uma casca de ovo a lembrança do menino que cresceu e criara asas. Sobretudo esquecida do mundo.
Esquecida? Restaria sobre si a fama de haver recusado um doutor, um Meneses. No fundo, todos acreditariam que a recusa teria partido dele, que, por ser educado, ocultaria a verdade. Ninguém pensaria de outro modo. Estava sitiada pela maledicência e pelas abusões que o seu noivado despertava.
Durante semanas passava a examinar o rapaz, estudando-lhe os gestos, palavras, intenções. Jogava-lhe indiretas, as verdes, como dizia. Apenas nada perguntava sobre o seu passado e sobre o que iria fazer. Quando Edmundo lhe disse que era possível levar Alfredo para a cidade, ela acreditou que não ficariam em Cachoeira, mas logo empalideceu, respondendo:
— Por quê? Casa-se comigo porque...
Interrompeu-se, foi ao quarto para combinar consigo uma desculpa e voltou dizendo com voz alterada:
— Olhe, dr., ainda é tempo do senhor ir embora. Volte para Belém. Dizem por aí que há qualquer coisa misteriosa nisto tudo.
[310] Liquide com o resto da fazenda. Está em tempo. Até mesmo dizem que o senhor não existe e que é meuã...
Lucíola não continuou, convicta de que o ofendera e pôs-se a rir, nervosamente. Ele também riu. Passou-se um silêncio.
— Mas, Lucíola, justamente porque nada tenho na fazenda é que não posso ir a Belém nem por passeio. Não sabe que quero encontrar aqui... uma maneira de... não sei que diga... Queria ser outra pessoa... Conformar-me. Realmente o homem que eu devia ser morreu. D. Marciana tinha razão ao me julgar um fantasma aparecendo naquela noite.
Edmundo voltou a rir, desta vez alto, para Lucíola riso imenso, caudaloso, sacudindo as casas, assustando as corujas, provocando a queda da jibóia no soalho.
Quando se contemplaram mudos depois que a jibóia se recolheu, perguntou ela:
— Não disse agora há pouco que ia para Belém?
— Depende de você, Lucíola. Podemos levar Alfredo...
— Por que Alfredo?
— Fazer com que ele seja o que não fui. Ele saberá para o que vai estudar. Nada tem atrás de si. Tudo nele é futuro.
Olhavam pela janela as poucas casas, as árvores que se petrificavam na sombra. O orvalho a cair, neblinando. Ouvia-se defronte, na padaria, a tosse do velho Antônio Português que batia a massa do pão e um rumor de remos veio crescendo no rio.
— Ou quer — perguntou Edmundo — esquecê-lo, compreendendo que é um ingrato, um rebelde... nunca pode ser seu filho?
Ela não respondeu, ofendida, tão magoada quanto certa de que não saberia responder.
Não era um impulso de piedade como a princípio parecia ser. Não. Não tinha razão nem pretexto. Necessitava explicar a Lucíola que abusara de sua boa-fé, que foi um repente... Ou ausentar-se de uma vez, sem qualquer explicação?
Primeiro foram aquelas visitas a casa velha, ouvir Didico no violão ou afinando o pistão nunca limpo, o contato, pela primeira vez, com uma família do povo que se dissolvia aos poucos. Seguiu-se o jogo de cartas, a jibóia enrolada nos caibros, o gosto daquela monotonia em que escapava da avô sempre às voltas com seus fantasmas diurnos e a exigir-lhe na hora do jantar que recuperasse a fazenda.
A cada vez maior sensação de ruína de Marinatambalo aliava-se aquela casa velha de Lucíola, como se ambas as casas se fundissem nos mesmos desgostos, na mesma caliça. Afinal Lucíola havia perdido o montepio e a juventude e ele a propriedade. Riu-se dessa reflexão e do próximo e por certo ridículo momento em que revelaria o fato à avó.
Apeou ao pé do pequeno bosque espesso na baixa. Por que a pedira em casamento?
Deitou-se ao pé dos troncos, cachimbou uns minutos. Deveria era ter se educado nos igapós da fazenda, no lombo dos animais e das canoas, agüentando sol e chuva nos lavradões marajoaras, pés gretados e grossos como aqueles troncos que via encordoados pelos cipós.
[306] E voltava a reproduzir na lembrança a cena do pedido: teve aquele movimento de se aproximar da janela onde estava Lucíola, fazer-se tímido, temperar a garganta, falar, com gravidade e embaraço, de sua tristeza, de seu encontro com a ruína, da insensatez da família. Criava assim uma atmosfera de persuasão de que ela não podia fugir. Era talvez uma tentação para a piedade, para tornar-se humilde, para a renúncia, não sabia. Em suma, a busca de uma nova e qualquer condição de vida.
Mas outros sentimentos se apoderaram dele naquela hora e, extinta a piedade, ficara apenas o prazer de a torturar, de experimentá-la até o fim.
Queria casar com ela, disse-lhe, e viu-lhe a palidez do assombro, o tremor nos cantos da boca, sem saber o que fazer das mãos, o olhar de aguda suspeita. Depois, o jeito de sufocada. Isto o excitou para o crescente prazer de vê-la cada vez mais aturdida. Fingiu-se mais embaraçado, embora mais claro nos seus argumentos, sustentando o olhar dela com brandura e quase súplica.
— Deixo-a para que me responda dentro de alguns dias.
Foi tão irresistível dizer isso!
Durante a semana, não deixou de estar presente na casa de Lucíola, agora na obstinação de obter e gozar a resposta, sem que deixasse de sentir ao mesmo tempo novas e repentinas piedades. Que faria se ela aceitasse? E que faria também, com ela ou sem ela, daquele desespero que se cristalizava em sua vida?
Durante três dias ela, como na primeira hora, não lhe dissera nada.
Acreditou que Lucíola observava-o, olhando-o no fundo dos olhos, conversando sobre coisas incoerentes e remotas. Estaria sendo logrado? Seria mais esperta do que ele aquela mulher tão coisa nenhuma? Teria adivinhado intenções, reconhecido a farsa? Aqui viu em Lucíola um senso, um caráter que o surpreenderam e capitulava aceitando o acontecimento por si mesmo provocado. Com uma mulher assim na minha família, refletiu, repentina e gratuitamente, não teria perdido a fazenda.
Quando voltou ao assunto e se lamentou que ela não quisesse compreendê-lo e ver a extensão de seu infortúnio, Lucíola falou assim:
[307] — Mas se continuasse rico, tão rico como era, teria ao menos entrado em nossa casa? — Ia acrescentar: Nem agora creio que esteja falando sério, e subitamente calou-se.
Ele teve vontade de rir e repetiu a sua queixa, acrescentando que não era o caso de ser rico ou não e sim... calou-se, penso no menino que a levara à fazenda, no espanto dela ao ver a caleche no bosque, semelhante ao de agora, pedida em casamento...
Desejou que ela confessasse sinceramente que não o merecia. Gostaria disso e tudo fez para que Lucíola falasse.
No entanto, ela parecia protegida por uma calculada indiferença. Então, imprevistamente, ele propôs a confecção dos cartões, escreveu a comunicação, ao passo que ela preferiu correr a espantar as galinhas de cima da mesa na cozinha. Edmundo viu-lhe a ponta da anágua, as pernas magras, os pés encardidos.
Voltou sem fitá-lo e violentamente quis transformar-se numa bela mulher para impor-lhe condições, ou repeli-lo. Necessitava conter-se, certa de que ele lhe vira a perturbação no rosto, a vergonha infinita de tudo aquilo.
Amarrotou o cartão que ele lhe havia dado, passou novamente a ler — era uma letra de médico — baixou os olhos para a ponta da chinela cambaia e falou voltada para a parede:
— Então me peça pros meus irmãos.
Disse, já sem forças, como uma mocinha, tão infantil e desamparada ficou, a Edmundo pareceu que se tornara, de repente, bonita.
[308] Falava a si mesma: que aconteceu comigo que nem sei mesmo, meu Deus, o que faça. Não sei... Era a sua obstinada e recente indagação. Aquele pedido de casamento tinha um misto de farsa e de ultrajante piedade, logo compreendido pela perplexa suposição de que ele descobria nela a mulher que poderia salvá-lo da ruína — e mulher que ela mesma ignorava.
Para decidir-se a enfrentar os acontecimentos que julgava tão absurdos, necessitava convencer-se, fazendo surgir então de seu corpo sem privilégios a imagem da remota afinidade [308] surpreendida por Edmundo. Se lhe fosse possível trazer essa criatura à tona, estampá-la em seus gestos, em seus desejos, em sua vontade! Ficaria senhora de si mesma, acreditando no mundo — quem sabe se lhe voltaria a força da juventude desaproveitada? E ficaria pronta para seguir o homem, ou melhor, para que Edmundo a seguisse.
Deveria aceitar o casamento e vê-lo com os olhos da mulher que ele vinha encontrando nela. Com isso, seria fácil atrair Alfredo, tirá-lo de d. Amélia, levá-lo para Belém?
Dias depois essa luta entre uma informe ambição e o medo de ser vítima de uma farsa agravava-se diante do espanto, das conversas cheias de escárnio e de suposição malévola na vila inteira.
Tinha em suas mãos o cartão do noivado, diante de si os olhos embaciados de Edmundo, a insistência grave e quase tímida dele, o projeto do enxoval, os primeiros papéis do casamento pelo Didico, o silêncio de Dadá que imprevistamente nada lhe dizia, nada...
Supunha, por exemplo, que não era a mulher simplesmente honesta e caseira, a “feia com caráter” que ele escolhia naquela emergência. Se fosse apenas isto não se convenceria nem nada significaria para ela. Nesse ponto, a sua ambição se tornava nítida. Queria que a “amada” de Edmundo também correspondesse ainda que de maneira indefinida, à recordação da única e verdadeira cena de amor daquela manhã de caça e daquelas noites de Marinatambalo ao lado de Alfredo.
Principalmente a lembrança das noites de Marinatambalo lhe dava agora um instante de ordem aos seus sentimentos e pensamentos. Naquelas noites como que assistira ao nascimento de uma felicidade e ao mesmo tempo tomara parte de um velório. De um lado, o “filho” e do outro as cenas defuntas, os despojos dos vinte anos confundidos com os da fazenda, aquele jazigo que era a casa velha, a estrelinha do menino lá em cima e a nudez de Adélia Meneses. Sentia-se tão feliz quanto abandonada.
Havia apagado a luz da varanda. O vento invadia a casa, silvando pelas frestas, sussurrando pelas palhas da parede. Lucíola debruçou-se no parapeito, expondo o rosto ao vento. Aos fundos do quintal aberto, o velho cajueiro se agitava como para amadurecer os frutos.
[309] Como na noite de Marinatambalo, via-se mãe solteira, satisfeita de sua condição, do abandono em que o homem a deixava, para que o seu filho melhor a amasse. A um canto, no escuro, esse filho deveria dormir.
Mas o próprio vento lhe trazia outras vozes, o cochicho da vila, o riso de escárnio de d. Amélia, bêbada no campo, arrastando o filho pela mão, caindo nos algodoais.
Baixou a cabeça sobre o parapeito, tonta, um ardume nos lábios. Pôs-se a alisar maquinalmente o ventre frio e seco e sentiu que aquele menino era para si como a cachaça para d. Amélia. Compreendeu ainda que se tivesse um filho não o amaria tanto quanto amava Alfredo. E por que então não falaria francamente a Edmundo?
Acendeu um dos cigarros do Didico na última brasa do fogão. Era tão simples dizer “não”, de uma vez. Tudo estaria resolvido. Voltaria à mesma lavagem de pratos, à mesma erisipela, à mesma devoção de S. Expedito, guardando para sempre como uma casca de ovo a lembrança do menino que cresceu e criara asas. Sobretudo esquecida do mundo.
Esquecida? Restaria sobre si a fama de haver recusado um doutor, um Meneses. No fundo, todos acreditariam que a recusa teria partido dele, que, por ser educado, ocultaria a verdade. Ninguém pensaria de outro modo. Estava sitiada pela maledicência e pelas abusões que o seu noivado despertava.
Durante semanas passava a examinar o rapaz, estudando-lhe os gestos, palavras, intenções. Jogava-lhe indiretas, as verdes, como dizia. Apenas nada perguntava sobre o seu passado e sobre o que iria fazer. Quando Edmundo lhe disse que era possível levar Alfredo para a cidade, ela acreditou que não ficariam em Cachoeira, mas logo empalideceu, respondendo:
— Por quê? Casa-se comigo porque...
Interrompeu-se, foi ao quarto para combinar consigo uma desculpa e voltou dizendo com voz alterada:
— Olhe, dr., ainda é tempo do senhor ir embora. Volte para Belém. Dizem por aí que há qualquer coisa misteriosa nisto tudo.
[310] Liquide com o resto da fazenda. Está em tempo. Até mesmo dizem que o senhor não existe e que é meuã...
Lucíola não continuou, convicta de que o ofendera e pôs-se a rir, nervosamente. Ele também riu. Passou-se um silêncio.
— Mas, Lucíola, justamente porque nada tenho na fazenda é que não posso ir a Belém nem por passeio. Não sabe que quero encontrar aqui... uma maneira de... não sei que diga... Queria ser outra pessoa... Conformar-me. Realmente o homem que eu devia ser morreu. D. Marciana tinha razão ao me julgar um fantasma aparecendo naquela noite.
Edmundo voltou a rir, desta vez alto, para Lucíola riso imenso, caudaloso, sacudindo as casas, assustando as corujas, provocando a queda da jibóia no soalho.
Quando se contemplaram mudos depois que a jibóia se recolheu, perguntou ela:
— Não disse agora há pouco que ia para Belém?
— Depende de você, Lucíola. Podemos levar Alfredo...
— Por que Alfredo?
— Fazer com que ele seja o que não fui. Ele saberá para o que vai estudar. Nada tem atrás de si. Tudo nele é futuro.
Olhavam pela janela as poucas casas, as árvores que se petrificavam na sombra. O orvalho a cair, neblinando. Ouvia-se defronte, na padaria, a tosse do velho Antônio Português que batia a massa do pão e um rumor de remos veio crescendo no rio.
— Ou quer — perguntou Edmundo — esquecê-lo, compreendendo que é um ingrato, um rebelde... nunca pode ser seu filho?
Ela não respondeu, ofendida, tão magoada quanto certa de que não saberia responder.
[311]
12
Quando bateram ~ porta, Lucíola assustou-se tanto como se fosse apanhada em flagrante com seus pensamentos íntimos.
Era a d. Doduca que vinha fazer a primeira prova do vestido.
Retirando do embrulho a musselina alinhavada, a costureira despertou em Lucíola a lembrança daquele lilás lustroso com que amortalhou o cadáver de sua mãe. D. Doduca não parou de falar, queixando-se das conversinhas que se espalhavam sobre as viagens continuas da filha na lancha “Lobato” e na “Guilherme Feio”.
— Só porque a mea filha não teve o capricho de agüentar até o fim na Escola Normal. Só porque não pude depois meter ela na Escola Prática ou na Fênix, lá está mea filha na língua dos outros.
Lucíola viu intenção da costureira de transmitir o que andavam falando a respeito do casamento. E atalhou:
— Olhe, d. Doduca, é uma coisa que não me importo.
Por que falara em “ir atrás de fazendeiros”? Quem sabe se desejava ou lastimava que, em vez de escolher a filha dela, Edmundo procurasse logo quem...
— Pois não me importo. Que falem.
Disse isto, amargamente curiosa do que havia de novo a seu respeito, do que pensava a própria costureira. Essa curiosidade era uma nova forma de torturar-se e ver em tudo hostilidade, inveja, mau agouro contra a sua vida.
A costureira com o vestido em pé à sua frente e com a almofadinha de areia onde punha os alfinetes, olhou vivamente para a moça.
[312] — A gente não se incomoda mas... Tu não sabe o que é inveja, mea filha...
E suspirando continuou a olhar o rosto encerado de Lucíola, a testa mais larga, o peso da insônia nos olhos, a lividez da boca, o silêncio. Indagou a si mesma por que Lucíola não mandava tirar a batata do tajasol, ralar bem e passar o polvilho no rosto. Este ficaria mais limpo, as cores reapareciam. Tomasse também o chá da socuba. Mas não se atreveria a aconselhar. Ou seria melhor dizer?
Atreveu-se e esperou a resposta. Lucíola sorriu apenas. Foi lavar as mãos como se fosse também lavar a alma para enfiar o vestido.
A costureira esperou na sala, tentando lobrigar alguma coisa que lhe fizesse sentir um ar de noivado naquela casa.
Enxugando as mãos numa velha toalha encardida, a enxugar no íntimo as lágrimas que deixava de chorar, Lucíola convidou a costureira a entrar no quarto.
— Mas, mea filha, aqui na sala tem mais claridade.
— Tem por causa da janela aberta e a senhora sabe que não vou provar isso com o povo da rua vendo.
— Que povo da rua, mea filha? Onde está esse povo?
— E melhor a senhora vir pra cá pra cozinha. Aqui tem claridade.
Por que aceitara d. Doduca para sua costureira? Era a melhor, explicara Didico. Costurava tão bem a roupa quanto a pele alheia. Quanto assunto teria dado ela para aqueles serões de Doduca? E a tarde da carruagem, o risinho, o olhar, a tosse escarninha de tuberculosa, esquecida da filha que subia e descia em lanchas nas redes dos fazendeiros e dos advogados?
Com o vestido no braço, d. Doduca perguntou então se o véu e a grinalda, o buquê, haviam chegado. Lucíola mentiu que não. Recebera também os sapatos brancos com fivelas, as meias, a liga, o leque e escondera tudo no fundo da mala. Mentiu ao próprio Edmundo que lhe havia perguntado pelas encomendas. Estranhou a demora e não pôde saber, de verdade, pois a lancha, que as trouxera, subira e descera na mesma noite. Lucíola aguardava um dia [313] melhor para dizer-lhe. Nem mesmo Dadá sabia. No entanto, a costureira não se enganara porque na lancha em que chegaram as encomendas, a filha veio e conseguiu com o mestre Sílvio revistar as peças uma por uma no beliche.
Enfiou o vestido longo e lustroso, cheio de alfinetes. A costureira foi provando e sempre conversando, ciosa de sua obra e ao mesmo tempo considerando estúrdio que aquele vestido fosse feito para Lucíola e sobretudo para uma moça que se ia casar em circunstâncias tão esquisitas na opinião da maioria da vila. Ajoelhada, no trabalho do ajuste, desalinhavando aqui, pregando ali, d. Doduca imaginava vestir a filha, a filha que quisera ver normalista ou bem casada e lutava agora em continuar a dizer que ainda era moça donzela. Para disfarçar, passou a falar sobre vários assuntos. Lucíola permanecia ereta, tensa, como se estivesse exposta a todos os que freqüentavam dia e noite a casa de d. Doduca.
A conversa da costureira subia-lhe como um sopro da maledicência da vila, devassando-lhe toda a vida secreta. Sentia-se naquele vestido dentro do mundo de Marinatambalo. Lembrava-lhe o pavilhão onde encontrara os restos e trapos das festas de antiga mente, sedas velhas, fantasias de carnaval, o espartilho negro, as roupas adúlteras de Adélia Meneses, como se fosse tecido de todos aqueles retalhos mofentos e puídos, dos fantasmas e das pragas que desabavam sobre os Meneses.
— Lucíola, dr. Edmundo não veio hoje?
— Ainda não. Mesmo ele não vem todo dia.
— Tão longe, não? E que deu nele para amansar aquele búfalo... Também aparece com aquele búfalo preto como um príncipe... Olha que ele é bem bonito. Vem espigado em cima do bicho.
Lucíola, silenciosa, deixou que a costureira ajustasse a cintura. E por causa do silêncio da moça, d. Doduca deu corpo ao pressentimento manifestado por muita gente de que o dr. Edmundo não a pedira em seu juízo perfeito. Lucíola sabia disso, sua tristeza explicava tudo. Aquele homem montado num búfalo não podia regular bem.
A costureira colocou na mesa a almofadinha de alfinetes e voltou a ajeitar o busto — “minha filha ficaria tão bem neste [314] vestido, com aquele corpo que ela tem, meu Deus... — a eliminar pregas, a alisar alinhavos, as dobras da manga e recuando uns passos — penso que só a Celina bate mea filha em porte, em garbo...” — examinou o efeito do vestido em Lucíola como se fosse na filha.
A moça estava entretida consigo mesma, refletiu Doduca, que nem parecia no mundo. O vestido ficava uma beleza, confirmava mentalmente, sem entusiasmo para dizer à noiva que não se encontrava dentro dele naquele instante. Onde estaria? Em que pensava?
D. Doduca inquietou-se, recordou casos misteriosos em matéria de casamento, o rol de coisas que aconteciam. A impressão que tinha, agora de Lucíola, ajustava-se ao seu pressentimento e às suas superstições. Via-a descorada e abatida, amortalhada naquele vestido. Compadeceu-se um pouco e prosseguiu a prova com demora, a paciência que lhe dariam tempo para insinuar uma conversa a respeito de falatórios na vila. Queria aconselhá-la a tonar uns passes, a consultar uma experiente, a pedir ao dr. Edmundo que a mandasse a Belém... Quem sabe se uma doença íntima, misteriosa... Sua filha, ao contrário, era sadia. Que beleza foi ela quando, uma vez, ao encontrar uma cobra no banheiro lá no fundo do quintal, saiu nuinha debaixo da chuva! Mas amanhã? Que será de sua filha?
Voltando a Lucíola, veio-lhe esta indagação como um choque: Ou Lucíola não é mais donzela?
Aqui a costureira aprofundou a sua reflexão, procurando recompor a vida de Lucíola. Algum caso, alguma conversa... As moas guardavam tanto mistério consigo. Aquilo que elas tinham de mais precioso estava exposto a tanto perigo, a tanta cilada, a perder-se tão imprevista e facilmente.
D. Doduca demorava. Teria certeza de que a sua própria filha deixara de ser uma moça? Temia perguntar-lhe, vendo que não era possível se enganar mais.
Lucíola impaciente. Foi aí que a costureira se lembrou de lhe contar da prisão de um pajé na Madre de Deus, começou a falar os meuãs aparecendo de certa época para cá no Arari.
[315] — Lucíola, tu acredita em meuã, em gente metida com bicho?
E para surpresa da moça, foi contando o parto da cabocla que descansou só vermes ao pé da socubeira.
— Por que a senhora se lembrou de me contar isso, sem mais nem menos, d. Doduca.
— Uai! que tem, Lucíola? Tu já sabia? Há algum mal?
— Não, não. Me tire logo este vestido do meu corpo. Me tire. A senhora conversa mais que prova.
Arrancou o vestido que caiu nas mãos da costureira e deu alguns passos pela varanda, muito agitada, de anágua, dirigindo-se ao quarto à procura da saia que vestiu.
A cabeça pesava, ímpetos de lançar no fogo aquele vestido, de chorar longamente abraçada a d. Doduca. Mas por que todos esses movimentos, por que aquele seu modo brusco diante de uma mulher a bem dizer estranha e inimiga?
Não sabia explicar. Esperou que a costureira aparecesse à porta do quarto e, como uma mãe, a fizesse deitar, lhe embalasse, de leve, a rede.
D. Doduca ficara sobressaltada. Lucíola, a uma simples história, eriçara-se como porco espinho. Mas não se arrependia de ter contado o caso. Surpreendera talvez na noiva algo que era a chave de todo aquele casamento, pensou.
D. Doduca, me desculpe. Foi uma dor de cabeça. Assim de repente. E tenho me atarefado um pouco, me consumido estes dias. E a senhora sabe de alguma coisa de mim por aí?
— Mas, mea filha, não se impressione. Não, não ouvi nada. Já lhe disse sobre o que falam da mea filha. Escurece isso tudo. Olha, manda rezar na tua cabeça. Tu precisa de uma oração no pescoço contra a inveja... a dor de cotovelo...
— Mas inveja, d. Doduca? De mim?
A costureira embrulhou o vestido. Vendo-a preparar-se para sair, Lucíola repentinamente passou a gracejar sobre os meuãs, a inveja, as dores de cotovelo, rindo.
— Por isso que sua filha nem liga, bem, d. Doduca? Mas ela nem pensa em casamento? Também não sabe como escolher. Vai sozinha a Belém, vem nas lanchas e nem liga... a senhora acha que [316] a gente não deve se importar, não é?
Que estranha transformação, refletiu d. Doduca, entre surpreendida e ferida pela intenção da moça.
— Espere. Vou fazer um tacacá pra nós. Um compadre meu lá das Pindobas trouxe tapioca e tucupi. A senhora fica. Passa o resto da tarde comigo. Dadá foi pra casa do Saiu. E olhe, lhe conto também o que se deu com uma conhecida minha. Assim foi que me contaram. Hum... A gente vive aqui e vai se impressionando. Ah, d. Doduca, essas coisas podem acontecer com as moças de 18 anos, novas...
A costureira sentiu que era com a filha, mas suspeitou também: que teria acontecido com ela, algum bicho lhe mexeu, um rapaz na sombra de um meuã, quando era mais nova? Por isto era aquela agitação toda?
E com o tacacá no fogo, excitada, Lucíola resolveu contar o que sucedeu à Diana, que conhecera há tempos, muito mocinha ainda, quando veio se crismar na passagem do arcebispo pelo Arari. Diana era a filha mais velha de seu João Lúcio de Oliveira, uma família que morava no Anajás, vivendo de um gadinho e peixe salgado. Depois que perderam tudo que tinham naquele rio, foram morar no Maguari. Uma vez, numa festa de aniversário, às nove da noite, após a ladainha, a casa cheia, quando começaram a dançar, Diana viu subir no jirau um rapaz desconhecido. Entrou no salão dirigindo-se logo para ela como se a conhecesse de muito tempo. Foi a orquestra tocar, ele tirou Diana, e tal era a ;raça do rapaz, o dançar e a conversa — cheirava, então! — que Diana não mudou mais de cavalheiro.
A moça parou a narrativa, para tomar fôlego. Mexeu-mexeu com a colher de pau na panela do tacacá e voltou à história. D. Doduca junto ao fogão, escutava, fazendo o molho de pimenta.
— Bem, disse Lucíola. Quando deu meia-noite o rapaz falou assim: Diana, estou muito cansado. Da viagem, talvez. Remei foi muito pra chegar aqui. Agora eu quero que me arrume um quarto, me feche nele, tire a chave e guarde sem mostrar e dizer a ninguém.
Como o rapaz pediu, a moça fez.
[317] Deixe estar que havia outra moça, de apelido Miúda, acompanhando todinho o namoro. Viu o jeito, já muito na vista, deles dançarem e quando o moço entrou no quarto. Deixou passar um tempo, experimentou se a porta estava mesmo fechada, empurrando-a com o ombro na passagem para a cozinha. Fechada. E entrou a tocaiar Diana. Tocaiou, tocaiou, até que se aproveitando de uma distração dela tirou-lhe a chave.
Rápida, abriu o quarto e recuou de um salto, gritando ao ver, enrolada na rede, uma negra e enorme cobra dormindo. Diante do povo que se amontoou, mundiado, a cobra ergueu então a cabeça com dois olhões amarelos que brilhavam como relâmpagos e falou ainda na voz do rapaz:
— Ah, Diana, tu me traíste. Mas tu me pagas.
Desenroscando-se toda, crescendo imensamente, a cobra soltou um urro e arrastou consigo a casa cheia, o jirau, o sítio inteiro, as embarcações para o fundo.
Lucíola, naquela noite, recolheu-se sem dizer mais uma palavra na casa velha.
Rezou longamente, sentada na rede, sem sossegar porque além de seus pensamentos, Dadá, defronte, dormia soltando exclamações:
— E. E um ovo. Um ovo!
Lucíola ergueu-se olhando para a irmã que se revirava, as coxas cabeludas, um braço fora da rede, boca de agonizante, caindo depois numa agitação entrecortada de apelos surdos e gemidos.
Aos poucos foi aquietando. A tempestade do sonho havia passado pelo solitário corpo da irmã que agora dormia. Lucíola deitou-se, cheia de calafrios e de suposições sobre o que diria a costureira lá fora depois do que vira ali dentro. Que me deu na cabeça para falar em Diana? Assim estou alimentando a maledicência, crivando de abusões e de suspeitas a pessoa de Edmundo. Estas reflexões doíam-lhe como remorsos. Tinha dado à costureira as aparências de uma mulher inteiramente maluca. E que queria d. Doduca ao lhe falar no búfalo, na cor do búfalo, na beleza de quem montava no búfalo... Sabiam que Edmundo era um Meneses, [318] embora duvidassem ainda de que estivesse pobre. Por isso então a perseguiam e a cercavam como se todas as bocas e todos os olhos do mundo estivessem voltados para o seu casamento, sussurrando e espiando? Como se a tranqüilidade da vila dependesse da não realização daquele casamento.
Parecia-lhe que a diferença entre ela e Edmundo a todos ofendia, violando as Leis da natureza. O fato era que sob essa diferença havia outra que ela afinal não sabia ainda explicar nem a si mesma qual seria. Edmundo naquela polidez tinha uns modos sombrios, contraditórios, repentes esquisitos — como o de acariciar o búfalo, dizer-lhe ao pé do ouvido que o búfalo era a sua grande propriedade, o projeto da exploração dos mondongos — em que procurava talvez esconder ou esmagar essa cobra grande que havia nele, o gênio dos Meneses. Isto os separava de uma outra maneira e secretamente ou era próprio da diferença que todos viam?
Lucíola chegava a compreender que essa secreta incompatibilidade poderia levá-la a apaixonar-se. A história de Diana não seria um aviso? Indagou ela.
Por outro lado, a avó de Edmundo na sua loucura insinuava que o malefício partia de Lucíola. Esta fizera, clamava ela na caleche sob o bosque, com que Edmundo abandonasse por completo as idéias da restauração da fazenda.
Lucíola ora desprezava, ora temia a velha Meneses. Planejava ir ousadamente a Marinatambalo um dia e pedir-lhe que tivesse pena dela, a ajudasse porque Edmundo necessitava das duas. E era estranho, refletia, que as mulheres da vila não estivessem de acordo com a velha Meneses. Podiam considerar que o casamento fosse até mesmo um crime, mas a culpa não provinha de Lucíola. Uma outra levantaram suspeitas contra ela surdamente e não pegou.
Lucíola não negava, no íntimo, que antes chegara a imaginar coisas para casar-se. Mas veio Alfredo, a ferrugem da solidão, Longas dores de erisipela. Os homens foram ficando tão impossíveis quanto insignificantes.
Agora lhe aparecia um deles, diferente deles. A sua razão lhe indagava: que relação existe entre este casamento e a desgraça de [319] Marinatambalo? Que serei para esse homem que me escolheu sendo eu Lucíola Saraiva e ele Edmundo Meneses? Que é que se esconde afinal por trás desses acontecimentos inesperados e cercados pelas incontinências de d. Amélia, a ambição de Alfredo, pela maledicência, a superstição, a desconfiança e a fama dos Meneses? Que serei para esse menino, de hoje em diante, e que vantagens terá ele com este casamento nascido daquela fuga?
Crescia também o seu temor ante a aproximação da data do casamento ainda não marcado. Imaginava o pudor ridículo que se apossaria dela ante o contraste físico revelado por inteiro, em toda a sua nudez, a certeza de que permaneceria inerte, repelida pelo que não lhe podia dar, como se, de tanto esperar, tivesse o sexo morto.
Ele, por sua vez, não lhe dera um beijo. Nem ela o queria, nem uma só vez conservava a mão na sua, por alguns momentos, o que nunca deu ensejo. Frio e polido sempre, despedia-se e, antes de montar, alisava a fina mão muito branca no lombo escuro do búfalo. Recordava-se do que disseram algumas impressionadas ainda com a caleche, o ar estático dele em cima do búfalo:
— Casando com ela poderá ao menos provar que esta vivo.
De todos os seus temores, o mais oculto era o de que poderia apaixonar-se, com a espécie de paixão à sua maneira, transferida de Alfredo e por isto mesmo agravada. E o menino? Que pensava do casamento? Era o que tanto desejava saber. Continuava alheio, mais diferente depois da fuga malograda, fingindo ou não indiferença pelo noivado, talvez por conselho da mãe, quem sabe se envenenado com o que Andreza lhe transmitia.
Transtornada com todas as conversas e abusões, gestos e silêncios que se acumulavam em torno dela, concluía, compreendendo que deveria enxotar de si o começo de terror e os seus tormentos.
Nos últimos dias, ouvira rato chorar no telhado e isto era sinal de morte, preocupou-se com o gafanhoto de boca preta encontrado na varanda, que era também de mau agouro. Agora as rasga-mortalhas voavam por cima da casa, rasgando-lhe com seus berros o vestido da noiva, o véu, a grinalda, o coração aterrorizado.
[320] Apanhou o cachimbo da mãe que guardava no oratório, encheu-o de fumo. Sentiu-se meio tonta, tossindo, sufocada. Edmundo, certamente, estaria caçando jacaré montado no búfalo ou pensando atravessar o mondongo. D. Marciana daria ceia aos seus fantasmas que em paga lhe contariam crueldade dos Meneses. Alfredo...
Um cochilo forte assustou-a como se a levasse por entre fundas brechas de um terroadal.
Sonhou depois que estava na noite do casamento dentro de um quarto forrado de espinhos e ananases, a música tocando em cima da casa. Defronte o noivo numa rede. Quando viu foi, em lugar dele ou de dentro dele, surgir um rolo de cobra que lançou o bote e a envolveu... Aí gritou. Dadá deu um salto da rede, com os seios pendentes por entre os rasgões da camisa, os olhos pulados:
— Hein? Que foi? Lucíola... Que foi?
Lucíola acordou, virando-se para outro lado, desta vez sem sono algum, esperando que os galos da padaria principiassem a cantar.
O noivo foi convidar o major Alberto para padrinho de casamento. A madrinha não era, por certo, d. Amélia que recusaria se fosse convidada.
Saiu do chalé meditando. Major Alberto, com quem conversava muito, não parecia da terra, à primeira vista. Não pisava descalço no tijuco e na lama, nunca pegara um remo, não pescava, não bebia, não fumava. Montar também não sabia, nem avaliar exatamente o preço de um boi. Tivera paludismo, a influenza, sabia da Revolução Russa. Tinha feridas e a pele branca permanecia fresca. Evitava os rudes contatos com a terra, mas identificava-se com ela, como dois amantes que não dormissem juntos e sem poderem separar-se nunca. Saturava-se do chão marajoara pelo ar, pelas resinas, pelas febres, as comidas, a preta, as longas sestas, as vozes do povo e parecia chegado ontem. Nem um indício de embotamento ou de cansaço. Fraco e comodista na aparência, [321] conservava em suas fibras uma sossegada vitalidade que se comunicava secretamente com a terra. Tornara-se propriedade desta, em vez de ser o proprietário. Pôs-se então a pensar naquela selvagem visto paradisíaca de Marajó que o embalava na Inglaterra. E havia sido expulso do paraíso antes de o ter encontrado. O pior foi que ao tentar conhecê-lo, encontrou o paraíso destruído.
Ao entrar na casa de Lucíola, sorria pensando obscuramente:
E aqui estou atrás de Eva como se ela e a sua jibóia do telhado me dessem o fruto para que eu me torne Adão.
Pelo menos, nascido de uma costela de Eva, concluiu.
Andreza conseguira levar o amigo aos seus passeios. Andavam longe pelos campos, tão soltos em tão longas tardes que Lucíola não escondeu as suas preocupações. Para impedir o menino de ir à lagoa onde os dois soltavam barquinhos de miriti e peixes furtados à5 canoas de pescadores, contou-lhe dos encantos e malefícios que as lagoas têm. Falou, de modo misterioso, da arraia grande-grande, que nascera no Arari e mudara para debaixo da lagoa quando ainda nem sinal havia da Cachoeira de hoje. Quando a lagoa se agitava era porque a arraia se mexia. Se esta saísse de lá, a lagoa iria em cima.
Alfredo sorria pelos olhos, coçando os mucuins do corpo, apanhados nos loucos passeios com Andreza. Roxos os lábios de tanto chupar pixuna, pernas esfoladas de subir tanto nas árvores, pés ariscos e duros de tanto correr em torrão de aterroado. Andreza, retinta do sol, tinha os olhos mais salientes como aquela areia engolidora cor de lama que reluzia de malícia, estouvamento e fome de caminhar nos descampados. Andava agora com um vestido feito de três panos, preto, amarelo e encarnado, que nem uma cobra coral.
Como não pudesse evitar que Alfredo fosse à lagoa, Lucíola falou-lhe diretamente:
— Fredinho, você acha que aquela pequena serve para anda na sua companhia?
[322] — Que pequena, nhá Lucíola?
— Essa menina... A Andreza.
Alfredo deixou o sorriso de fingida incompreensão boiar em seus olhos. Não. Não conhecia essa menina Andreza. Quem era? Nunca tinha ouvido falar de semelhante nome. Mas, de pronto, lhe fez a pergunta:
— Por quê? Agora não é mais a lagoa? E a Andreza?
— Você tem reparado bem nos modos dela? Querendo saber de tudo e...
— Ela falou de seu noivado, nhá Lucíola? Ela falou do que andam dizendo do dr. Edmundo?
— Que é que andam dizendo?
— Nada... E escute, não se pode andar sabendo de tudo, a gente não pode se meter onde a gente não é chamado.
— Mas com essas caminhadas pelo campo...
— Primeiro a senhora falou mal da lagoa. Pra acreditar mesmo, queria ver a arraia. Falei com Andreza. Ela me disse que talvez sim, talvez não. Não era bom tirar o tal do encanto da lagoa? A gente pegava a arraia, Andreza comia, pronto. O tio dela anda sem comida, coitado. Era ou não era?
Alfredo, que disfarçava o seu temor ao mistério da arraia, viu foi a confusão de Lucíola e foi-lhe delicioso torturá-la, descobrir-lhe talvez a mentira sobre a lenda, medindo também o quanto ele a dominava ainda.
— Só sei que a companhia dela não lhe convém. Uma menina sem juízo como nunca vi neste mundo.
— Nunca? Nunca? No mundo inteiro? Na França? Em Calcutá também? Está falando a verdade? Jure. E por que a mamãe ainda não me disse isto que a senhora está me dizendo?
Alfredo ria, empinando o queixo num ar de menino solicitado e senhor da situação, os dedos bulindo no carocinho dentro do bolso.
Lucíola compreendeu que aquela menina lhe roubava os últimos frágeis laços que ainda o prendiam à casa velha. Porque, em toda a parte, estava Andreza, com aquele vestido de cobra coral dado pela d. Glorinha, senhora do promotor. Se o menino, lá uma [323] vez ou outra, aparecia na casa velha, eis que, como por um encanto, chegava a ciganinha, coberta de terra da cabeça aos pés, convidando-o pras correrias no campo, pros algodoais brabos, onde ficavam ocultos até a hora do banho. Desciam então à beirada do rio, jogando entrudo um no outro para regressarem ao chalé, irreconhecíveis.
Assistindo a um dos freqüentes bate-bocas no chalé entre o Major e d. Amélia, notou logo a ausência de Alfredo. E foi surpreendê-lo, tamanha uma hora da tarde, atravessando a lagoa, com água pela cintura, uma água que fervia ao sol. Andreza, atrás, levava o vestido em cima, como mesmo uma cobra coral enrolada ao peito, o rosto amarelo da manga que comera.
— Alfredo, você quer pegar uma febre? Nossa Senhora. Sua mãe não vê isso?
Chegando à beira, onde Lucíola os esperava, de chapéu de sol, Andreza derreou a cabeça, soltando o vestido que se colava ao corpo ensopado, e olhou de baixo para cima, como gostava, franzindo a testa:
— Não sabia que a lagoa era nossa? Estamos de bem com a mãe da lagoa. A arraia que a senhora contou ao Alfredo? Conversou com nós e disse: podem brincar que não ferrôo vocês, meus filhos. Me faz um bem ouvir as brincadeiras de vocês. Até sinto os pés de vocês dois me alisando...
Alfredo, pingando lama, mordendo distraidamente um talo de mururé, fechava na mão o peixinho que apanhara e murmurou: cuide de seu noivado, cuide de seu Bezerro Mole. Andreza, receosa da cara feia que fazia Lucíola, se escapuliu subitamente.
Lucíola, então voltou a falar do perigo das más companhias. Visse o exemplo do teatro. Tivesse cuidado com Cachoeira. Sob aqueles conselhos deslizava, mentalmente, uma outra camada de palavras e estas eram contra d. Amélia, contra aquelas cenas do chalé, com o desejo de que o menino visse o seu futuro no casamento dela e afirmava a si mesma que se ele lhe dissesse: “Case para me levar consigo” em um tempo casaria.
E Edmundo? Estaria compreendendo o poder daquele menino sobre ela, a ambição do menino, a necessidade de tudo fazer [324] para tirá-lo do chalé e dar-lhe a sabedoria a que aspirava?
Alfredo irritou-se despeitado com a fuga de Andreza, revoltado com os conselhos de Lucíola, compreendendo que as pessoas grandes viam a maldade em tudo. O mundo era de uma ordinarice tal, que as mulheres andavam suspendendo a saia para os homens e os meninos mostrando a bimbinha pras meninas. Nada prestava, tudo tinha a pouca vergonha dentro. Jurava separar-se cada vez mais de Andreza, de sua mãe, do chalé e dos adultos e, sobretudo, de Lucíola, porque esta levantava tamanho aleive contra Andreza. A menina, tão apressada, metidinha e maldosa entre os grandes, nunca lhe dissera um nome feio, lhe insinuara uma coisa proibida, fizera um s6 movimento suspeito quando sozinha com ele. Apenas naquele instante sentia que Andreza — com a qual brigava sempre, mas sempre quando estavam sós — o desfeiteara em presença de Lucíola.
— Sabe de uma coisa, nhá Lucíola, vou ficar mal com ela.
— Assim tão depressa? Não é preciso tanto... E o que andam falando de Edmundo? Você... é de seu gosto este casamento, hein Alfredo?
— Vou ficar mal. Não falo mais, nunca mais.
E o começo de júbilo misturado naquela ansiosa indagação apagou-se com a explicação de Alfredo:
— Não falo mais porque ela me deixou só aqui. Foi embora sem dizer porquê. Por que ela foi embora? Sabe que ainda estou aqui em Cachoeira por causa dela? Por que ela foi embora? Medo da senhora? Vergonha? Uma sem coragem. Ninguém podia nos proibir de brincar na lagoa. Ninguém.
O menino desapareceu pelo capinzal, certo de que mentira um pouco ao dizer que Andreza o retinha na vila. Não era isto inteiramente. Era também medo, o malogro da primeira fuga o perturbara e necessitava planejar uma viagem certa. Decidira tomar as mais serias satisfações com Andreza logo à boquinha da noite.
Na manhã seguinte, Lucíola, afinal, recorreu a d. Amélia. Encontrou-a calma, escolhendo café em grão para torrar.
[325] — D. Amélia, vim aqui, a senhora me desculpe. Talvez a senhora com tanta ocupação não tenha reparado...
D. Amélia, aí, fechou-se, sentindo um fio de indireta ou de escárnio e nisto se enganava porque Lucíola a temia. Como que se tornava mais preta ao tomar aquela atitude de defesa e prevenção que vinha assumindo desde alguns meses. Será que essa mulher vem se atrever.
— ... mas Alfredo anda em companhia dessa menina, a senhora sabe... Uma menina que veio daí dos campos, sem ninguém que cuide dela, coitada, sem classificação alguma... Mas Alfredo é que não pode estar pegando os vícios dela... A gente tem pena... Mas é uma menina quase perdida...
A falta de segurança no argumento, Lucíola gaguejava e d. Amélia riu.
Disse que agradecia o aviso, realmente a menina era muito levada. Acentuou que o seu filho vivia resmungão, malcriado, depois recaíra com a doença dos olhos e com novos acessos de febre assim como ainda não tinha podido levá-lo a Belém. A companhia de Andreza tivera isso de útil: tirava-o um pouco do chalé... (Um pouco? indagou mentalmente Lucíola). Não podia separar o filho daquela menina, por enquanto. Antes ela do que ficar na rede, nos cantos pelo chalé, trancado em si, chamando febre.
— E então, pra quando é os doces, disse d. Amélia, familiarmente, mudando de tom, tocando pela primeira vez no assunto.
Lucíola não respondeu, sorrindo, mais ossuda, a testa saliente com uns tons sombrios.
— Já marcaste? Olha, Lucíola, eu queria falar contigo sobre uma coisa. Mas tu não vai te aborrecer. Vai?
Lucíola, já de pé, estava de olhos esgazeados para d. Amélia. Tinha as faces em fogo, um tremor nas pernas, um dente começou a doer-lhe. Andreza subia e descia num redemoinho com o menino debaixo do braço. Por que ela lhe dissera: “Já marcaste?”, atribuindo a si uma responsabilidade que não tinha? Por certo, falavam que tudo dependia dela. Que Edmundo estava para servi-la em tudo. Em parte era ele mesmo que espalhava isso.
Com a pausa de acanhamento e de receio de d. Amélia, [326] Lucíola respondeu que a data não estava ainda marcada e voltou a sentar na ponta do banco como se não pudesse mais se suster de pé.
— Desculpe perguntar, mas vocês vão preparar a casa?
— Não... isto é... Não sabemos ainda. Didico precisa falar com Rodolfo...
Na sua confusão, pensou no velho sonho da mãe, dela e dos irmãos, o de mandar erguer ao lado da casa velha um chalé alto, de telha francesa e sacadas de ferro. Puderam erguer apenas os esteios, retirados depois com o suicídio de Ezequias. Agora nem mesmo podiam consertar a casa velha e Edmundo nunca lhe falara nisso. Ele talvez se sentia bem na casa assim, velha, em começo de ruínas porque era dentro do velho e do acabado que ele queria estar.
— Porque... se queres te preparar aqui no dia, não te acanha, tu podes receber teus convidados. A gente arma aqui na varanda a mesa. Te serve do chalé à vontade, aquela menina. Tu não te aborrece. E se não quiseres aqui, eu me ofereço pra ajudar a Dadá a arrumar a sala, lá. Como tu quiseres. Mas não te acanha. A gente serve um ao outro. E olha, Lucíola... Tudo que possam dizer do teu noivado, menina, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. E o melhor que tu fazes. Eu sou uma preta, Lucíola, mas abusão e conversinha comigo nunca pegou nem pega. Já joguei da porta de casa um embrulho imundo, disque feitiço contra mim. Fiz foi caçoada. Também não disseram que eu tinha enfeitiçado seu Alberto? Por que havia de enfeitiçar... Ora, ora. Teu noivo não é melhor do que tu. Em nada. Em nada. Ninguém é melhor do que a gente. Põe isso na cabeça.
Era como um desafio, pensou Lucíola, e com isto fazia a defesa de seu vício, negando-o. Também não falavam que o vício dela era o resultado daquele embrulho que varrera da porta há tantos anos? Desafiava. Naturalmente, se colocava numa posição de igualdade com ela, Lucíola, como se fosse a mesma coisa... E que interferência sem propósito! foi a sua indignação íntima de um instante.
Faria o casamento na Intendência. Não convidaria ninguém. E se convidasse, que tinha com isso? O soalho da casa cedia? Sim, [327] e daí? Quantos convidados? Uma humilhação a mais lhe fazia d. Amélia. Quantas vezes não zombaram do chalé do Major certos de que levantariam, todo de pau-amarelo e acapu, o chalé dos Saraivas! E agora para que aquele oferecimento? Tudo por causa do filho. Queria atirá-la nos braços de um desconhecido para melhor separá-la de Alfredo. Esse era o interesse dela, a ponto de oferecer-lhe o chalé para que a própria casa do menino fosse o lugar da definitiva separação.
Via no rosto de d. Amélia a satisfação maldosa, o empenho em disfarçar as suas faltas, o sorriso em que se concentrava tudo o que diziam daquele noivado, tudo. E se daquele momento resolvesse também a falar da embriaguez, dos escândalos, de que estava sofrendo castigos (sabia lá por quê... — o filho afogado? — com aquele furor de beber, sob o efeito do feitiço que zombara?).
Diante dela, escolhendo o café, d. Amélia mantinha-se tranqüila, acima do mal, dos erros, das paixões, desafiadora, como se nunca tivesse bebido. Até mesmo parecia mais nova, os dentes frescos, a boca pronta para cuspir numa Gouveia, os olhos sem uma sombra do que acontecia dentro de si e no chalé. Era uma senhora, não havia dúvida, a gente tinha que concordar. A preta sabia prender. Sabia recompor-se inteiramente e sem demora. Nem a lembrança de Maninha crispava aquele rosto aberto, liso, preto porem comunicativo que não se via em muitos rostos brancos e aquela voz corrente e amiga...
Entre duas estacas soltas do quintal, Andreza, com o rosto pintado, uns bigodes feitos e carvão, chamava d. Amélia para ver o entrudo. Alfredo fazia bolinhas e beijus de barro.
— Bem, d. Amélia, vou pensar no seu oferecimento. Desde já lhe agradeço muito.
Entrou na casa velha como se esta a tivesse engolido, escondendo-a para sempre no reboco de suas velhas paredes.
Lucíola, fora de seus hábitos, foi atrás de Andreza que entrara na padaria e apanhou a menina furtando pão enquanto o velho [328] Antônio lá dentro tossia à frente do forno, retirando pão torrado. Andreza não se deu por achada e confessou que era para o
tio. E subitamente desorientada, devolvendo o pão ao cesto, pediu-lhe apenas que não contasse a Alfredo. Lucíola comprou três pães que deu a menina.
— Mas agora está na minha mão, ouviu bem? disse a moça baixo. Qualquer coisa... e conto pro Alfredo.
Depois os viu juntos à sombra da Folha Miúda, arrumando caixotes, garrafas, potes quebrados, cacos de alguidares e cuias pitingas, uma lamparina sem fundo e cadeirinha de miriti. A menina, completamente outra, tinha um ar de desafio. Era a casa deles, estavam casados, dissera-lhe Andreza.
E grande foi o assombro em que ficou Alfredo, de olhos acesos para a menina. Como? Andreza não lhe havia dito nada. Ajudara-a por pura brincadeira, até certo ponto a contragosto. Tinham feito um tácito entendimento em montar aquela casa debaixo da árvore pelo prazer de carregar água do rio, fazer a louça, móveis, mesas, panelas, toalhas de folhas, o pilão feito da tabatinga.
— Pra que então tu mentiste, sua...
— Por nada. Me veio aquilo na cabeça e eu disse. E tu, que tu tem com isso? Toma, toma mea língua, dá um laço nela e arranca fora e joga pra piranha. Só assim tu me proíbe de falar o que quero. Anda, toma...
Recolheu a língua e baixando a cabeça, espichando o pé para revirar folhas do chão, disse, meio atrapalhadamente:
— Escuta... Eu fiz... Tu sabe que sempre ando errando, Alfredo. Tu também não me corrige, a culpa é tua. Ela me pegou tirando um pão lá do seu Antônio. Mas tirei porque meu tio me pediu esse pão. Meu tio quase não se levanta. Melhora, piora e vai piorando sempre. A gente não tinha um tostão prum pão. Tu tinha? Ela me deu três. Até guardei um pedaço. Está aí atrás, agasalhado debaixo das folhas. É pra ti. Eh, se ela soubesse que tu havia de comer do pão dela, em vez de três, dava dez.
Correu e trouxe o pedaço de pão para ele que recusou. Andreza deu os primeiros passos em direção ao rio a fim de atirar o pão n’água. Conteve-se lembrando-se do tio e o guardou.
[329] Alfredo afastou-se da árvore, esfregando as mãos viscosas do barro. Achava que a amiga se adiantara muito, numa insolência, num apresentamento que justificavam os cuidados e as intrigas de Lucíola. No fundo de seu constrangimento e mesmo de sua raiva, sentia-se envaidecido. Era necessário cortar as asinhas daquela pequena, concluiu com pouca convicção.
Andreza, silenciosa, foi atirando no rio as coisas de barro, quebrou a garrafa, pisou na bonequinha de pano, sua filha, que tinha a cara tisnada, amassou o fogão onde, sem fogo, as panelas ferviam.
Ante o lar destruído, resmungava muito baixo, os olhos ardendo. Jurou vingar-se de Lucíola, jurou nunca mais procurá-lo, jurou que havia de fazer com que ele não pudesse mais de dor de cotovelo, porque de agora em diante brincaria com os outros, escondida no algodoal.
Aqui seu ressentimento desfez-se em lágrimas. Mais tarde iria arrepender-se pela fraqueza que demonstrava diante de Alfredo. Tinha o coração mole-mole como ouvira falar lá na fazenda. Ela que queria exercer domínio, desejava correr, em pé, no pêlo de um cavalo brabo e galopar, galopar, como se fosse amansar aquele Bezerro Mole mal assombrado, de que falavam em Marinatambalo.
Alfredo não montava como ela. Ah, queria ser aquela princesa do lago onde os galos encantados cantavam, a princesa que os vaqueiros não podiam ver, pois se a vissem, regressariam ardendo em febre, ou morreriam como aqueles dois que, delirando, morreram falando nela, vista à beira do lago sentada numa raiz.
Alfredo podia ter nascido entre os livros do pai, cheio daquela raiva de não poder ir embora. Ela, porém, sabia coisas que ele ignorava, de gente, de bichos, de plantas, do seu pai morto, do irmão sumido, do rio. Como princesa, levaria Alfredo para o lago, teriam uma velhinha tomando conta deles. Quando os pescadores e os vaqueiros se atrevessem a querer desencantá-los, os seus encantos, o dela e o dele, ficariam dobrados.
Foi a amizade à lagoa que os reconciliou na tarde seguinte, ao notarem, surpreendidos, que a amiga secava a olhos vistos naquele verão.
[330] — Está secando, Alfredo. Que vamos fazer. Vai ficar como nos outros anos, seca-seca? A gente tem que lutar contra esse sol.
E começou a luta pela vida da lagoa. Andreza chamou os moleques da rua de baixo que riram da estranha lembrança. Concordaram, porém, em ajudá-los.
A lagoa cor de aço inchava ao sol, moribunda. Alfredo, então, se lembrou da cantiga de sua mãe, a história do rio morto. Tornou-se muito tempo pensativo que foi preciso Andreza acudir:
— Que foi? Olhe, mano, os outros estão trabalhando. Não pense que me esqueci de sua idéia. Não pense. E olhe, a gente tem que encontrar o olho d’água e proteger ele com folha verde. E quem sabe se a arraia não está é bebendo a água.
— A arraia recolheu a água do olho. Ela guarda a água, por isso a lagoa não morre.
Apesar de todo o seu ânimo, Andreza temia a arraia. Tinha seis anos, quando certa manhã viu um pescador, ferrado de arraia, gritando de dores. Uma velha disse qualquer coisa à mulher do caboclo e Andreza foi levada para um quarto, escanchada nua em cima da ferida do pescador. Ela gritou, mas lhe disseram que era para sarar a ferrada e que só uma menina naquela posição podia com o veneno da amua.
Andreza preferiu não contar essa história a Alfredo. Este responderia que era mais uma mentira. E indagou:
— Por que às vezes uma verdade fica passando como uma mentira, bem, Alfredo?
— A gente tem que pedir pro Damião trazer um barril d’água do moinho.
— Se eu te contasse uma verdade... E sobre a arraia.
Alfredo fez-se indiferente. Andreza calou-se.
Uma fila de moleques ia e vinha do poço do cata-vento com baldes d’água que despejavam na lagoa, já um pouco convencidos de que a estavam salvando.
A lagoa secava rapidamente, a água escoava para o centro, e da lama endurecida as terroadas apareciam. Fios d’água pegajosa fluíam pelas brechas, poças aqui e ali, morriam os raros peixes. Sapos pulavam entre a vegetação esponjosa e escura que [331] agonizava. Murchavam os mururés. Nem um pingo de chuva, o vento que vinha, vez por outra, vinha era queimando. A lagoa morria. Um moleque teve a lembrança de trazer um coto de vela e acender na beira.
— Pra que isso, Ezequiel?
— Ela está desenganada. Nem indo pro hospital da cidade dá jeito. Precisa de vela na mão.
Andreza apagou a vela, pisou-a, quis expulsar o menino. Prometeu dez tostões a Damião que, bêbado, rolava barris da água para o seio da lagoa. Foi preciso o delegado proibir.
Meninas furtavam dedais de casa que enchiam nos potes e nas moringas para dar de beber à lagoa. Canecos, cuias de Santarém, garrafas cheias, uma mobilização geral de todos os recursos para salvar a lagoa que já mostrava o seu casco do fundo, exaurida e muda.
Não encontrando o olho d’água, Alfredo e Andreza deslizavam no fundo e se detinham, no meio da lagoa com medo da arraia. Os moleques procuravam cobrir as poças com folhas de bananeiras. Andreza pensou, instantaneamente: se Alfredo fosse ferrado... ela se oferecia, sim, nua-nua para sará-lo.
Depois repararam que algumas aves bravias voavam em torno, habituadas que estavam a beber ali e foram escalados novos guardas que apedrejavam as aves. Andreza discordou:
— E onde elas vão beber? Deixem. A água é também pra elas.
— Elas podem beber no rio.
— E vocês sabem se tem o mesmo gosto, se não é essa água que faz bem a elas? Quem mata a lagoa não é as piaçocas, é o sol. Este sol...
E Andreza tentava olhar diretamente para o sol, a areia guio-se tornava amarela, as pestanas pareciam crestadas.
Se o centro, como um coração, mantinha alguma água para onde traziam socorros, o casco rachado e lamacento descobria o esqueleto da lagoa. O coração vazava sempre. Nem todos os poços da redondeza seriam capazes de salvá-lo. E Alfredo sentiu em todo aquele trabalho uma aproximação com os moleques como [332] até então nunca sentira. Estava igual a eles, que compreendiam a inutilidade da luta, mas continuavam ali fiéis, confidentes e companheiros. De certo modo, alegrou-se com isto como se triunfasse sobre Lucíola que os caluniava e talvez lhe permitisse combinar com eles uma melhor maneira de fugir.
Esquecera um pouco o carocinho, embora tentasse com este, uma vez, encher a lagoa. Misturava-se com os moleques que se deixavam comandar por Andreza, mas sempre caçoando, sugerindo que mandassem chamar seu Ribeirão, o farmacêutico, para acabar de matar a lagoa. Perguntavam se chegara a hora de encomendar ao seu Abade o caixão para a agonizante. Tinham que levar a defunta para o rio. Então imaginaram o enterro da lagoa. Como seria o caixão?
— Uma nuvem — gritou Andreza, espremendo o vestido de coral agora pesado de lama.
— Pra mergulhar no rio? Indagou Alfredo.
Não sabiam, confusos que se viram, naquele extremo até onde a conversa e a imaginação os levavam.
Esse acontecimento, para Lucíola, ligava-se a todos os fatos singulares que envolveram a sua vida naquele ano. Nunca vira meninos fazerem serviço daquela natureza, descobria neles intenções, pelo menos indícios de que algo havia ali contra o seu casamento também. Era uma maneira de Andreza reunir os moleques, perder Alfredo inteiramente, contar o que se dizia sobre o casamento. E olhando, da casa velha, aqueles meninos enlameados dentro da lagoa, pensou vagamente que eles bem poderiam um dia retirar dali o seu cadáver.
Viu-os saírem da lagoa, gritando pelos campos que haviam deixado um poço que conservaria pelo menos um indício de vida e daria para refrescar durante o sono a velha arraia.
— Assim estou eu, disse ela, à falta de quem me dê essa vida... Mas, na mesma noite, Andreza e Alfredo, de mãos dadas, foram correndo espiar e logo aos gritos tentavam afugentar os bois que beberam o último alento da lagoa.
[333] Depois de embaraçoso silêncio em que Lucíola tentava em vão puxar conversa, seu Firmino explicou:
— D. Lucíola, ando imaginando onde botar essa menina, essa minha sobrinha, a Andreza. A senhora sabe, um homem inutilizado como eu, com esta hérnia, quase cego. E a menina precisa de uma sujigação. Está muito asselvajada. A senhora viu ela por aí, agora?
— Não, seu Firmino... Não deve andar em companhia de Alfredo? Mas ninguém ainda quis ela, seu Firmino?
— Querer, d. Lucíola, já. Mas a senhora sabe, Andreza não amansa com duas montadas. Quando quis entregar ela pra d. Violeta, nem calcule. Se agarrou comigo, falou bobagem, disse que eu queria ver ela na casa dos outros para viver apanhando. Gênio do avô e do pai tem ali.
Lucíola não respondeu. Ali estava outro para torturá-la, disse de si para si. Tanto que se esforçava para não pensar em Andreza e no que aconteceu com a sua família. Teria vindo por instigação de alguém? D. Amélia? a própria Andreza? Doduca?
Sabia que Andreza era da família dos Bolachas, perseguidos havia anos pelos Menezes. A última vítima vinha pedir socorro a quem ia se casar com o último Meneses, que teria de expiar pelas culpas da família.
Pediu, então, a seu Firmino, informações precisas a respeito de Andreza. Surgiriam novos horrores. Vinham à tona sobre aquele casamento todos os podres dos Meneses.
Seu Firmino tinha um sossego inocente. A princípio hesitou, ignorando que Lucíola sabia mais ou menos o que acontecera. Poderia ofendê-la, embora dr. Edmundo não fosse culpado de tudo o que se passou. Quando ele lhe quis contar alguns episódios, Lucíola ergueu-se bruscamente e explicou-lhe que conhecia a história e o disse, de tal forma que fez o tio de Andreza despedir-se.
Só, na varanda, a cabeça apoiada na mesa, Lucíola tentava reproduzir a história. Não teria havido exagero? Não pôde saber inteiramente como os fatos se deram. O inevitável era que Andreza ficara e restava Edmundo. Entre os dois, ela, Lucíola, como noiva, como a ponte em que os dois poderiam reconciliar-se e esquecer tudo.
[334] Ora, o avô de Andreza, seu Manuel Bolacha, fora o dono das terras de Santa Rita, à margem do baixo Arari. Umas duas mil braças de fundos onde chegara a criar meia dúzia de cabeças de gado. Para mandar a mulher a Belém tirar um quisto, de que morreu na mesa de operação, o velho tivera de vender as reses, desfazer-se dos cavalos. Ficou ainda com a casa de telha, toda avarandada, uns roçadinhos, medrosos de tombarem na maré, o chiqueiro com uns porcos magros e o curral de peixe. Seu Manuel Bolacha com o desgosto quis se desfazer de tudo e partir. Abriria em Belém uma quitanda para sustentar a educação da neta.
— Tu não fica burra nas meas mãos, mea neta. Tu, não — dizia à netinha que choramingava nos seus braços.
Era um velho caboclo esguio, ossudo, a barriga funda, movimentos mansos, o olhar renitente.
Tratou de procurar comprador para Santa Rita. Subiu o Arari, os oferecimentos eram ridículos. Só baixou o preço em Cachoeira a um comerciante que não lhe poderia dar nem metade do dinheiro à vista. Entre a pena e o arrependimento de deixar a terra, obstinara-se a não oferecê-la aos Meneses, seus vizinhos, donos de Marinatambalo, que a queriam por dois vinténs a fim de estender o latifúndio até o igarapé Mauá que atravessava Santa Rita.
Resolveu fazer o negócio com o comerciante, mas este, ameaçado pelos Meneses, recusou. Seu Bolacha, então, voltou decidido tas a permanecer alguns anos mais à espera que a “neta ficasse mais taluda”.
— Tu, mea neta, tu tem cabeça que eu sei. Quando tua mãe as estava de vela na mão, prometi a ela que tu estudava.
Uma tarde, apareceu Rodolfo, já desde esse tempo oficial de justiça, levando-lhe uma intimação.
Os Meneses haviam requerido demarcação de suas novas terras anexadas a Marinatambalo e nelas incluíam mais da metade de Santa Rita. Alegavam ainda que seu Bolacha enganara uns herdeiros, apossando-se ilegalmente daquele trecho de beirada que lhes pertencia. Seu Manuel Bolacha correu ao cartório da vila, com os seus documentos embrulhados num jornal velho: uma [335] amarelenta folha de papel almaço, rota e borrada, roída de traça e uns recibos antigos. Desenrolou os papéis com dignidade e sobretudo com aquela convicção com que os pequenos proprietários exibem os seus títulos de propriedade.
O tabelião, seu Farausto, com a sua famosa neurastenia, que já fazia parte das mil e uma complicações do cartório, explicava-lhe, aspirando rapé, que a partilha entre os herdeiros fora feita sem inventário, sem formalidade judicial alguma e aqueles recibos nada valiam.
— Mas os herdeiros estão reclamando alguma coisa? Aqui está a prova do pagamento. Paguei. Fizemos tudo amigavelmente.
— Legalmente?
— Mas foi tudo direito. Agora se os herdeiros querem reclamar eu posso ainda me entender com eles. A gente concorda...
— Onde estão eles? Em que inferno se esconderam? Gritou o tabelião na iminência de um estrondoso espirro.
— Mas não são eles que estão reclamando?
— Por mim, seu Manuel, você ficaria lá até o diabo dissesse basta. M depois prestava contas ao Pai Eterno. Mas pelos Meneses, você... Afinal, por sua ignorância, deixou de legalizar a tempo... enfim, nem sei mesmo se eles não tomariam depois, com toda a legalidade. Agora e aceitar a dura lei.
O tabelião, impaciente, resmungou entre espirros, deu as cosa Manuel Bolacha que indagou, inclinando a cabeça:
— Perder as terras, o sr. disse, seu Farausto?
— Meu caro, olhe aqui o que diz o Código... e vou lhe ler razões do advogado deles.
Manuel Bolacha ouvia calado o relambório em que suas terras, a casa e sua neta se viam cercadas e sem saída.
— Os Meneses são Governo — exclamou, por fim, o tabelião voltando a espirrar sobre o Código Civil aberto na escrivaninha.
— Tenho os meus direitos, seu Farausto. Lá encalhei 30 anos. Criei caraca naquele chão, seu Farausto.
— Muito bem, seu Manuel, não me aborreça mais, não tenho nada com isso. Não sou eu que vou pro inferno pela injustiça que vão fazer com você. Mas, me diga uma coisa, isso tudo sem selo, [336] papel timbrado, firma reconhecida, sentença do juiz, registro em cartório, não tem valia, não vale coisíssima.
— Vou defender os meus direitos.
— Lá no inferno? Ora, ora, seu Bolacha, parece que você não conhece que sou um neurastênico, que perco a calma quando oiço essas tolices? O único jeito é você dar um tiro. Mas será homem morto noutro dia. Veja se consegue um entendimento amigável com eles. O advogado, mesmo se ganhar a questão para você, lhe tomará as terras para cobrar os honorários.
— Vou defender os meus direitos, seu Farausto.
O tabelião irritou-se, sufocado com a tosse; derrubou o Código Civil, pediu ao mesmo tempo um café de lá de dentro para o seu Bolacha, e concordou que os Meneses não tinham nenhum direito. Mas a Justiça estava contra o seu Bolacha. Nada podia fazer. Era naquele cartório, como tabelião, ponderou, um simples instrumento da Justiça. Apanhou o Código, serviu café ao intimado, queixou-se que aquele cartório era também o seu pelourinho.
Manuel Bolacha recusou embrulhar os papéis em jorna] novo e foi esperar os homens da demarcação em Santa Rita.
Atirando para o alto, fez Edgar Meneses recuar. Este mandou-lhe dizer que não continuaria a demarcar e forjou um corpo de delito para provar que dois vaqueiros seus haviam saído baleados. E enquanto o acusado, em Cachoeira, prestava depoimento, Edgar Meneses, à frente de seus capangas, em Santa Rita, ateou fogo nos roçadinhos, destelhou a casa, matou os porcos, surrou o filho de Manuel Bolacha que sarava de um baque na coxa. As mulheres se esconderam com as crianças no mato e até os santos do oratório, Edgar Meneses levou.
Manuel Bolacha cuidou primeiro de reaver os seus santos. Sem estes, sentia-se mais fraco e mais só, diante dos Meneses. Tinha que buscar, pelo menos, o seu Francisco das Chagas, de sua melhor devoção.
Cobriu-se de lodo, tingiu a cara na casca do murucizeiro, e entrou, à noite, noite alta, em Marinatambalo. Dirigiu-se à sala que servia de capela. Não teve ânimo de incendiar os pavilhões da fazenda. Chegara a marcar o lugar no pavilhão onde Edgar [337] Meneses dormia. Apontara o rifle. A bala, varando a parede, o atingiria na cabeça ou na perna, conforme a posição dele na rede.
Baixou a arma, pensando na neta. Subiu ao telhado, pôde abrir a janela da sala e caiu de joelhos, diante do oratório, onde estaria o seu pobre S. Francisco das Chagas.
Apanhou duas imagens e à luz de um fósforo reconheceu o seu protetor e mais o Santo Antônio de Lisboa que era dos Meneses. Ouvindo bulha no quarto ao lado, saltou, abraçado aos santos e desapareceu pelo bosque.
Os Meneses espalharam que Manuel Bolacha roubara as imagens de Marinatambalo para fazer o que fizera com as de Santa Rita: atirara-as no rio. Uma força da guarda rural de Cachoeira entrou em ação e fez Manuel Bolacha restituir os dois santos a Marinatambalo.
Ainda assim Manuel Bolacha passou alguns dias no xadrez. Numa hora de faxina, embarafusta por baixo dos trapiches, encontra um casco na beirada e foge para Santa Rita.
Depois de novas prisões e novas fugas, Manuel Bolacha em seu depoimento reafirmava que os Meneses lhe furtaram o oratório, mas confiava que os santos voltariam pelos seus próprios pés a Santa Rita. Sua esperança durou até nova visita dos Meneses ao sitio. Manuel Bolacha, solto dias antes, foi levado a Cachoeira numa rede, escorrendo sangue, moído de relho.
Apanhado em nova fuga, ficou amarrado como um jacaré vivo e nessa condição foi que recebeu o conselho do delegado de polícia: não voltasse mais a Santa Rita. Os Meneses haviam legalizado no cartório a posse das terras. Era inútil lutar contra a lei, contra o governo, contra os Meneses. Manuel Bolacha estrebuchou no soalho, Andreza começou a gritar no colo do pai que coxeava ainda e o velho foi solto.
Manuel Bolacha armou barraquinha de moradia noutra margem do rio defronte de Santa Rita. Os Meneses reclamaram a prisão do roceiro porque a liberdade deste ameaçava Marinatambalo. Lá foi uma diligência buscar Manuel Bolacha que se entregou, sorrindo, os movimentos mansos, a neta no colo, os velhos documentos no bolso.
[340] Depois de cinco dias de xadrez, Manuel Bolacha manifestou desejo de tomar banho. O soldado amarrou uma corda à perna do preso e o levou à beira do rio. Era no inverno, com a força das águas descendo, desciam também os “barrancos” com os penachos de canarana e os anus muito pretos pulando, como tripulantes dessas verdes embarcações. Bolacha olhou o rio, o seu rio, voltou-se para o soldado e propôs uma aposta.
— De que, seu Manuel Bolacha?
— De que levo meia hora no fundo d’água só de um mergulho.
— Ora, deixe de prosa, seu Manuel Bolacha. Tem fôlego lá pra isso?
— Quem tem fôlego pra lutar contra os Meneses, tem fôlego pra ficar meia hora no fundo. Dou aquela baúta de folha. E a mea aposta.
Manuel Bolacha entrou na água com a perna amarrada, passava a 20 metros um “barranco” denso de canarana, a corda estendeu-se presa à mão do guarda. Nessa ocasião, ilha de anus e de um guará vermelhíssimo que inclinava o bico cheio de malícia. Bolacha mergulhou, rapidamente lá no fundo tirou o nó da perna e engatou a corda numa pedra.
Foi boiar por baixo do “barranco” no meio das altas canaranas entre anus, o guará e um reino de formigas. Contavam que o guarda, durante minutos puxava a corda, encontrava o peso e dizia:
— Esse Manuel Bolacha tem fôlego mesmo. Só peixe-boi. Perdi a aposta!
Um mês depois, Manuel Bolacha foi visto com a montaria cheia de lenha subindo o rio.
Obrigaram-no a lavar o salão da Intendência Municipal onde se realizaria um baile em homenagem ao dr. Meneses, deputado estadual, que chegara da Inglaterra. Manuel Bolacha cuspiu e gritou: axi, que eu vou!
Arrastaram-no até o salão. Ele repetiu com voz mansa que não lavava. Foi preciso a intervenção do major Alberto que veio de seu gabinete e gritou, numa das suas explosões, contra a “selvageria”.
[339] Quebrado, com arrepios de paludismo, Manuel Bolacha foi agradecer ao Major e afiançou que continuaria a luta.
— O Major pode me ajudar como advogado.
— Agora é impossível, seu Manuel. Eu faria alguma coisa. Mas o Direito está agora do lado deles.
— O Direito, Major, o direito? Mas o direito...
E não disse mais nada o velho Manuel Bolacha.
A febre, violentíssima, o alcançou no meio da viagem em que remava no seu casquinho. Uma hora mais tarde, em estado de coma, rolou para o fundo da frágil e rasa embarcação que passou rodar lentamente na correnteza. Quando a apanharam encontraram o cadáver.
O filho de Manuel Bolacha, pai de Andreza, querendo cumprir antiga vontade do velho, pediu licença aos Meneses para sepultar o defunto nas terras de Santa Rita. Responderam que Santa Rita não era cemitério. Os amigos de Manuel Bolacha, então, fizeram um enterro para o cemitério do Itacuã, o caixão nos bancos da montaria à frente do triste acompanhamento pelo rio. Na realidade, Bolacha foi sepultado a uma hora da manhã dentro de um a rede ao pé de um acapuzeiro grande nas terras de Santa Rita.
Com a ruína dos Meneses, Edgar no seu retiro distante, continuou, porém, a fazer de vez em quando algumas das suas contra os que apanhava na sua unha. O pai de Andreza ergueu, então, uma barraca à beira do igarapé Mauá.
Edgar achou que era um desaforo. Estava arruinado, mas não admitia desrespeito à memória do irmão. Encontrou-o mariscando com o filho, o maiorzinho, disse-lhe que saísse do igarapé. O caboclo fez-lhe ver umas tantas verdades. O que bastou para que Edgar de cima de seu cavalo, de repente, armar o laço e apanhar João Bolacha pela cintura e arrastá-lo num galope doido pelo aterroado.
Estava já o homem botando sangue pela boca, arrebentado, quando o fazendeiro parou no meio do campo. Saltou e deu um tiro bem no peito de João Bolacha. E que fazer com o curumim que corria aos gritos e caiu em cima do cadáver do pai? Era tudo solidão. O menino, a quem chamava?
[340] Contavam que Edgar Menezes o enterrou nalgum retiro de Marinatambalo.
Lucíola andara fazendo perguntas a Rodolfo e este nada lhe quis adiantar. Didico chegara na mesma ocasião e foi quando se ouviram gritos na rua de que dois meninos estavam no meio do rio esperando a pororoca.
Lucíola desceu a escada e já atravessando o aterro, no rumo da margem, corria d. Amélia. Não havia uma só embarcação por ali na beirada, tinham que ir ao trapiche municipal. D. Amélia gritava chamando o filho.
Mas os dois meninos remavam tranqüilos no meio do rio naquela noite. Andreza tinha visto o seu Ângelo da Madre de Deus desembarcar da montaria e subir a ribanceira. Acenou para o Alfredo. Os dois pararam diante da montaria, surpreendidos. Era nova, pintada, cheia de cachos de banana verde, uma abelheira, a galinha e seis pintinhos, dois muçuãs enfiados num cipó, umas parasitas em flor, o feixe de folhas de maniva, a cuia de tapioca dura. Alfredo se lembrou do pedaço de floresta que encostara no chalé pelas águas grandes. Aquilo era um sítio que viajava também, subindo o Arari. Os pintinhos piavam. Andreza hesitou, olhando o amigo. Este fez sinal com a cabeça que era a sua resolução de desamarrarem a embarcação e partirem para esperar a passagem da pororoca.
E na hora em que alguém os descobriu, Andreza explicava o mistério da pororoca:
— E três pretinhos que vêm pulando na espuma da maresia, brincando, fazendo pirueta tanto que, quando a ribanceira tem pedra, eles atravessam mergulhando. Mudam de beira e vão aparecer mais adiante na cambalhota. Diz-que os pretinhos na volta vêm por terra. Por isto é que a pororoca não volta.
Ouviram os gritos e se assustaram mais do que se fosse a pororoca. A montaria descia na correnteza como palmeira de bobuia, em que os pintinhos se calavam, pressentindo a aproximação dos três curumins pretos. Alfredo manejava o remo com certa dificuldade. A popa era alta para ele, a embarcação pesava. Andreza no meio, o remo suspenso, tinha o ouvido à escuta. Ah, disse [341] consigo, se a pororoca voltasse de lá de cima do rio e levasse ele e ela para a cidade na cabeça dos três pretinhos! Riu e ao lhe perguntar Alfredo por que ria, Andreza afirmou que era uma besteira, não fosse atrás de tudo que lhe desse na cabeça.
Em meio aos gritos da beirada, os dois ouviram o barulho lá no estirão abaixo, crescendo pelo rio que estremeceu. Rebentou no fim do estirão, sendo possível ver o fio da espuma na crista da onda barrenta que avançava pela margem esquerda, como um punho fechado. Um movimento de assombro e de pânico assaltou o menino na montaria sem direção. A onda mergulhou, com os três pretinhos invisíveis, para estourar adiante, subindo, com o ímpeto e a velocidade de uma cobra boiúna em fuga. Rapidamente o banzeiro envolveu a montaria que subiu, desceu na cabeça e na cauda da onda em marcha, num embalo vertiginoso e virou.
Apanharam os dois náufragos entre os parasitos em flor que bobuiavam. D. Amélia carregou para a ribanceira a menina desmaiada. Alfredo tremia na mão de Lucíola que chorava e tremia também.
Disse a d. Amélia que levava Andreza para casa e trataria dela. Isso, pensou, agradaria a Alfredo.
D. Amélia teve ainda de vender o porco para pagar os prejuízos do dono da montaria.
O desvelo de Lucíola não impressionou Alfredo, que só uma vez e durante um minuto, foi visitar a doente. Esta observava que a causa da ausência vinha daqueles cuidados de Lucíola para com ela e não demorou senão três dias na casa dos Saraivas, fugindo para o pardieiro do tio.
Quando Lucíola lhe deu notícia da fuga, Edmundo, sem fitá-la, antes não lhe havia dito nada, interpelou-a:
— Afinal não consultou ninguém ao trazê-la para sua casa. Depois, já não compreendo mais o seu zelo pelo menino.
— O menino?
— Sim, o menino. A sua paixão por ele, o gosto de ser humilhada, torturada por ele. Que eu me torture pelo que já não existe, o que foi meu, parece razoável. Mas por uma coisa que está [342] viva e não é seu, nunca foi seu... Não está em tempo já de lançar fora esses hábitos e sentimentos? Em breve, será uma senhora.
Edmundo tossiu curto. Falava com polidez e intimamente com indignação, sentindo o enorme fosso em que tombara. A que chegara o proprietário, ter de lutar contra um menino, não ter, exatamente, um poder de senhor sobre aquela derradeira propriedade que era Lucíola... Apanhou o cachimbo, encheu-o e sondou com o olhar o velho telhado para descobrir a jibóia.
— E a jibóia? Não me apareceu hoje.
Uma senhora, repetiu mentalmente Lucíola. Uma senhora.
Lucíola surpreendeu-se ao vê-lo, naquele sábado, chegar tão cedo da fazenda. Desceu do búfalo defronte da padaria onde entrou e logo voltou acompanhado do Antônio padeiro.
Ficaram os dois juntos à cerca, numa conversa longa. O padeiro, de gorro, velho, o avental imundo, tossia. Escorado nas estacas, a mão afundada no grande bolso do dólmã azul, Edmundo escutava-o, a cabeça derreada. Trazia um chapéu de carnaúba, culote sem perneiras, as botas grossas de lama.
Lucíola, à janela, esperava-o.
Não o achava naquele momento tão bonito ou alinhado como supunham. Qualquer coisa nele desbotava-se, encardia e lembrou-se que o vira sair do atoleiro naquela visita ao mondongo. Por pouco, não tombara do búfalo na última quarta-feira, à frente das moças que vieram deixar uma amiga no porto. Ao passar no mesmo búfalo, diante de Alfredo, este riu e atirou inexplicavelmente o seu carocinho sobre os zincos do antigo gasômetro da casa do Coronel Bernardo.
Vai vê-lo amanhã, descalço, o rosto cozido ao sol, os alvos pés como cascos no aterroado e no fundo de limo e Iodo das embarcações. As pernas negras da picada dos mosquitos, de bolhas e perebas. Aqueles cabelos, gema de ovo batido, reduzidos a uma palha dura e suja. A camisa curta e entreaberta deixaria entrever uma fatia de barriga semelhante à polpa das melancias verdes. Falaria errado entre os caboclos, que saberiam escarnecer de uma [343] educação feita para pescar traíra, beber no Saiu, casar... Aqui Lucíola dobrou-se ante a própria insignificância. Por efeito desta, Edmundo passava a ser exageradamente bonito, a causar aquelas suspeitas, aquela confusão. No entanto, aceitava-o como se aceitasse mesmo pelo fato de ser absurdo. Submetia-se a todas as provas, a afogar nela a paixão materna por Alfredo ou a encontrar no casamento a possibilidade de atrair o menino depois que ele a visse “casada com um doutor”.
Edmundo acabaria seguindo para a cidade. Alfredo não resistiria à tentação e ela o levaria consigo. Com a convicção de que era estéril, não esperava ter filhos. Tendo Alfredo a seu lado graças a Edmundo, esqueceria a manhã de caça, ignoraria os espelhos e o contraste que a convivência diária dissiparia. Gostaria do verdadeiro homem que se guardava ali sob a casca de um moço educado na Inglaterra.
Que ouviria ele do velho português de tão importante? A mão eternamente no bolso. Curioso que tivesse esquecido o cachimbo.
Temeu que passassem moças naquela hora. Temeu Alfredo. Atravessado na rua, o búfalo. Teria este nascido antes do primeiro homem? Nunca ouvira Saiu dizer que houvesse búfalos na Bíblia. E não escondia o seu receio daqueles chifres de pedra, daqueles olhos em que se enfurnava uma imemorial e inesgotável ferocidade. Comparou-o a Edmundo: era um outro contraste, mas, no fundo, havia entre os dois afinidades. Um parentesco entre o animal, ela e Edmundo. Riu da boba reflexão causada pela conversa que não terminava. Ele acenou-lhe novamente que esperasse.
Duas moças passavam. Atentou para ver se ele as olhava, se notaria ao menos que as moças caiam num saracoteamento de meter mais pena que vergonha. Uma delas era a Emiliana, pernonas, os quadris saltados. Ele não fez sequer um movimento, nem no olhar. Nem ouviu que as moças o salvaram, gulosas dele. Por que Edmundo muitas vezes se mostrava tímido, tão reservado diante das moças? Ou timidez e reserva significavam respeito às mulheres? Não seria excessiva ou demasiado proposital essa indiferença? Por que ela e não Emiliana? Educação inglesa? Frieza ou desapontamento delas? Já lhe dissera na véspera que não teriam [344] cama de casal, mas leitos separados. Foi tal o seu choque, que teve um repente de perguntar-lhe, contendo-se a tempo:
— Nojo de mim? Horror de mim?
Vendo-o calmo, tão natural, compreendeu que era sem dúvida “um costume inglês” e talvez fosse melhor para ela também.
Avistou d. Amélia que chamava o filho através da cerca velha do coronel Bernardo. Em vez do filho, surgiu Andreza, coroada de folhas verdes. D. Amélia tinha o olhar parado em Edmundo, o sol no rosto negro. Esta, disse Lucíola para si mesma, meteu-se de uma vez no casamento. Compreendera que a preta a defendia e animava o seu noivado para melhor vingar-se contra as Gouveias, parentas dos Meneses. Estas haviam mandado chamar Edmundo e desfiavam a vida das Saraivas. D. Amélia contou-lhe e chegara mesmo a dizer ao próprio Edmundo que lhe perdoasse, mas aquelas suas parentas não prestavam. Edmundo riu e Lucíola descreveu-lhe o que sucedera a d. Amélia na noite de São Marçal. Ocultou, porém, o motivo. No íntimo, desejava que o pai fosse mesmo Rodolfo e achara quase insultante que d. Amélia chegasse a tanto com tantos zelos pela paternidade do Major. Quem sabia se a causa do seu pegadio por Alfredo não era por força do sangue? Rodolfo não a merecia por quê?
E sentiu-se impotente para impedir a participação dela naquela hora decisiva. Viu-a ajeitando a coroa de folhas na cabeça da menina. O menino apareceu na cerca, seguiu a mãe que deu um cambaleio. Quis chamá-lo para evitar que visse a mãe naquele estado e para mostrar-lhe o enxoval. Num dos seus desesperos, Alfredo acabaria se atirando no rio. Não teria sido uma desesperada intenção a idéia de esperar a pororoca?
Voltou a olhar, com súbito ressentimento, para Edmundo a quem havia pedido com ingenuidade, dias atrás, para dar umas aulas a Alfredo. Talvez este, pegando amizade nele, fugisse do ambiente do chalé. Depois, já não havia a bem dizer escolas em Cachoeira. A professora pedira licença para tratamento de saúde. O professor, resmungando algarismos, amarelo, soturno, enfeitava o quadro com a sua caprichosa caligrafia.
Mas não esperava esta resposta de Edmundo:
[345] — Quer também que eu seja o pai de Alfredo?:
Foi uma espécie de surdo desabafo. Negava-se a dar uma simples lição ao menino tão esfomeado de saber. Para que então estudara lá na Inglaterra? De que valiam seus conhecimentos? Ouvira-o dizer, certa vez, sem entendê-lo: Aprendi para ser um proprietário.
Que queria dizer com isso?
Sabia lá se ele, por onde andou, só não se casara por ter sido repehdo pelas namoradas, que, mais finas do que ele, logo lhe descobriam o egoísmo, o Meneses. Não era apenas a ruína da fazenda que o transtornava, mas a do seu coração.
Tudo isso se dissipou ao ouvi-lo dar-lhe explicações sobre a conversa que tivera com o padeiro. Visava a compra ou o arrendamento de um pedaço de terra no baixo Arari. Pedira informações, o português as deu sem nunca mais acabar. Faria um roçado. Lucíola mal dominou a vontade de lhe indagar bem alto: mas com essas mãos?
Edmundo percebeu e disse entre galhofante e sério:
— Mas que é que está pensando? Não amansei um búfalo? Não tenho força para chicotear um lombo de cavalo?
Para Lucíola, a última pergunta assumia um acento estranho que associou ao furor de Edgar Meneses diante da esposa no tronco.
— Hein? Responda-me.
— Mas, homem de Deus, ouviu eu dizer alguma coisa? Não está me vendo calada?
— Mas deu a entender.
— Eu? Somente acho que é muito fino... muito educado pra estar pegando numa qualquer enxada...
Ele fez um gesto de sardônica impaciência num riso sufocado, soprando pelo nariz.
— Ora, Lucíola, pois justamente estou lutando para tirar este verniz, esta tintura.
Lucíola olhou para ele com a expressão dos míopes, como para apanhar de surpresa lá de dentro do noivo, a cobra-grande que arrebatou Diana. Era isso, o segredo do casamento. Casava-se para se tornar um bruto.
— Mas sabe, acrescentou ele, que só você impedirá o pior.
[346] Edmundo fechava os punhos, piscando singularmente. Também ela lhe poderia dizer, por exemplo e de maneira gratuita, que aceitava aquele casamento para fugir de Alfredo, provar as moças, às Gouveias... Nesse momento, talvez para iludir-se ou fugir à análise da nova situação, tomou a confissão como um ato de desespero ante a impossibilidade de qualquer medida para evitar a entrega da fazenda ao dr. Lustosa. Por que ele, embora agrônomo — nem lhe perguntara ainda se era bacharel também — não cavava o emprego vago de juiz substituto, em lugar do dr. Campos?
Mas não lhe disse nada. Passaram a conversar sobre a avó que andava dando ordens no bosque, chamando vaqueiros inexistentes, olhando uma fazenda que não existia mais. Gritava que viria cercar a casa de Lucíola e obrigá-la a desistir do casamento.
— Mas se o sr. me diz uma coisa dessas, por que continua a vir aqui? E a primeira vez que me diz isso. Não sabia.
Ela sabia, sim, mas desejou saber o efeito de suas palavras, achando que Edmundo lhe insinuara uma proposta de rompimento.
— Você sabe que minha avó tem suas loucuras. Compadeça-se dela de uma vez para sempre. Senhoras como ela quando tudo perdem...
— Tudo não. Ela não perdeu o sr. e o sr. pode ter tudo.
Ele riu. Tudo? Tudo... Riu novamente. Afundou a mão no bolso.
— Você, Lucíola, não sabe. Está me vendo moço, assim, mas aqui dentro está roda a herança que me deixaram. Os seus ossos. Sou um depósito de ossos. Um jazigo pintado de novo por fora.
Passeou pela sala numa repentina perturbação. Como se já não pudesse mais conter-se, caiu na cadeira, o ar fatigado. E com uma decisão nervosa, tirou do bolso, largo e fundo, um embrulho amarrado por um fio que Lucíola reconheceu ser de um daqueles espartilhos velhos do pavilhão.
— No que dá a minha pretensão de arqueólogo. Remexendo lá pelos retiros da fazenda, catando coisas de índio, encontrei isto. Desembrulhe.
— Isto? Eu? Então quer me mostrar caveira de índio? Mande [347] pro museu, mas não quero nem ver, O sr. mesmo...
— Continua me chamando de senhor. Senhor de que? Deste embrulho?
— E o que é?
— Desembrulhe.
— Diga.
— Quer mesmo que eu mande para o museu?
— O sr. é que sabe... Alguma maldade contra o sr.?
— Bem, Lucíola, você talvez vai me julgar um doido, seja o que for. Realmente não devia ter trazido. Mas quero que participe de tudo que agora me acontece. São as minhas escavações, sou o arqueólogo de minha família. Encontrei isto atrás de um fogão velho no retiro de Arrependidos, hoje desabitado. Pensei que fossem cacos de cerâmica marajoara. E aqui estão. Não vou desembrulhar. São ossos. Ossos de uma criança ali enterrada não há muito tempo. Alguém, uma pobre mulher que...
Lucíola recuou ao encontro da parede em que se apoiou sob o quadro de São Expedito como para proteger-se, a cabeça entre as mãos numa crise de soluços. Edmundo, colocando o embrulho na mesa e retirando-o no mesmo instante, disse-lhe numa voz abafada:
— Como, Lucíola? Que é isso? Que agonia é essa? Por que tudo isto, querida?
Por um momento, Lucíola parecia conter os soluços: querida. Pela primeira vez, “querida”. Chamando-a de querida, com os ossos da criança na mão. Os soluços aumentaram.
— Poderia dizer-lhe, Lucíola...
Ele a viu voltar-se para ele, a face devastada pelas lágrimas, pelo sofrimento e pelo medo. Contou-lhe o que sabia em rápidas palavras e como Edmundo não lhe parecesse acreditar ou mesmo quisesse dar razão ao tio, exclamou:
— Ainda quer inocentar o seu tio? Acha que estou inventando um aleive? Pergunte ao tio da menina, a d. Marciana, pergunte ao povo. Foi justamente em Arrependidos que o seu Edgar Meneses morava, quando aconteceu. Para lá levou o inocente.
[348] Mudou-se há uns anos.
Mas Edmundo não trazia nada naquele embrulho. Encontrara, é certo, os ossos da criança, deixando-os na fazenda. E era como se os tivesse traído.
No silêncio em que se tornavam desconhecidos um do outro, o teto parecia desabar sob o peso da jibóia que, entre os caibros, movendo o papo, os espiava. Algumas tábuas do soalho cediam aos pés de Edmundo. Este soprava os cascões da parede onde se penduravam fios de aranha. Os corpos suavam sombriamente de um calor não da tarde morna, mas daquelas duas criaturas, calor de angústia em Lucíola, calor do embrulho ali roçando o peito, do olhar de Andreza sobre os dois, se os surpreendesse.
— E o que é incrível é que passasse todo aquele tempo conversando ali defronte com isso. Não sei. Meu São Expedito...
— Exatamente, Lucíola, incrível. Mas não quero inocentá-lo e estou certo de que o defenderia no júri se alguém viesse denunciá-lo. Acho que passaram os anos da lei. O menino foi dado como desaparecido. O processo caducou. Fazer isto foi inútil, na verdade. Talvez por desespero, por delírio de um ódio... Meu tio pode ser mau, hoje doente, mas também perdeu tudo. Do proprietário, ficou apenas o assassino, o ladrão. E acha que eu não seria capaz de fazer o mesmo em iguais circunstâncias? Eu ou você?
— Pelo amor de sua mãe, de Deus, ouça-me: vá enterrar essa criança. Ah, não compreendo que suporte isso consigo. Ou o sr. está fazendo da fraqueza força. Sei que não enlouqueceu e penso um pouco na menina que anda por aí na rua, perdida... E veja, sinta que dói saber... Podia ser um filho meu...
— Que poderia ser Alfredo? A Alfredo a quem neguei dar lições. E verdade, é verdade... Mas de que valia ensinar o que ainda sei? O conhecimento que adquiri foi como água num copo sujo. Ninguém pode beba-la. Está contaminada. Alfredo aprenderá por si mesmo. Saberá aprender, com tremendas dificuldades, o que aprendi sem nenhuma e inutilmente. Ele não quererá um professor que carrega ossos de criança no bolso. E que destino teria essa criança?
— Dr. Edmundo, eu vou consigo. Vamos juntos. Eu monto [349] na garupa. Não importa que falem. Importa é sepultar esse anjo. Estes... Digam depois que matamos. Espere um pouco...
Tinha uma voz de súplica, retirando-se para o quarto onde foi mudar de roupa e agora ouvia a voz dele à porta encostado:
— Lucíola, não tenho peso algum na consciência. Não posso pagar por todos os crimes da família. Basta que pague pelo maior que foi o de perderem a fortuna. Este embrulho foi um passado que desenterrei por equívoco. Já nem mesmo pertence ao proprietário, mas ao arruinado e louco Edgar Meneses. Castigá-lo já nem vale a pena. Sabe o que acontece com ele lá no retiro onde mora?
Lucíola se vestia, sem se sentir, cega e sufocada. A voz de Edmundo entrava lenta, como se viesse daqueles pavilhões de Marinatambalo, do fogão de Arrependidos.
— Os moradores da vizinhança vivem assombrados porque meu tio assegura que conversa com o Diabo. Pois eu mesmo fui assistir, levado pela d. Marciana. Todas às sextas-feiras disse que encontra com o Diabo. Nesse dia não recebe ninguém. Fecha-se num quarto o dia inteiro cercado de velas, resmungando sem parar. Ontem, sexta-feira, ele saiu, à meia-noite, da barraca. Saiu, com uma vela acesa, umas bonecas de pano crivadas de espinhos e se dirigiu para o canto do curral velho. E começou a dar gritos roucos, a dizer nomes chamando o Diabo. Este, na imaginação do meu tio, aparece sempre montado num cavalo.
Lucíola assomou à porta, pronta, o olhar sobre ele. Edmundo segurou-lhe a mão, de súbito beijou-a e sentou pesadamente na cadeira que estalou.
— Todos, continuou, que moram por ali viram o espetáculo. Escondidos num mato próximo. Depois ele voltou contente. Contou aos caboclos as peripécias do encontro. Havia mais uma vez vencido o diabo. Eu não apareci a ele. E o povo que tem medo sofre as conseqüências, porque meu tio, a custa disso, vai furtando galinhas, porcos, patos... O Lustosa me escreveu de Belém que meu tio lhe furtou uma égua. Eu não quis lhe dizer. Mandou-me advertir que não mandava prendê-lo em atenção a mim, à minha família.
Nisto, entrou Dadá. Lucíola empalideceu e atraiu o noivo [350] para a janela. A irmã varara o corredor.
— Você não vai, Lucíola — disse ele baixo. — Confie que quando anoitecer irei enterrá-lo. Vou só. No cemitério mesmo. Mandarei fazer uma cruz sem inscrição. Esteja certa. Mas não acha que isso nos uniu mais?
Ia dizer: perdoe-me, e não sabia por que, achou isto demasiado e mesmo ridículo para ele. Algo de grotesco insinuava-se em tudo aquilo. Ao sair, receou encontrar-se com Andreza.
Montando no búfalo, aproximou-se da janela e despediu-se, gracejando para disfarçar o abatimento:
— Este búfalo se incumbirá de defender a nossa casa velha contra o assalto da avó. Ela virá de carruagem cornos fantasmas à frente. Mas jogaremos a carruagem no rio.
Acenou para ela e ao atravessar o campo, à luz do anoitecer, não deixava de parecer um cavaleiro fantástico em direção de sua morada nos atoleiros e nos campos de Marinatambalo.
Edmundo resolveu, à última hora, não falar ao tio, como prometera, e a cruz sem inscrição foi levantada. Alguns dias depois ao apear diante da janela de Lucíola, com a determinação de se casar dentro de uma semana, foi chamado à padaria onde o prefeito de polícia o esperava.
— Dr., mandei chamá-lo constrangido. Trata-se de seu tio. O sr. sabe, ele pode fazer aquelas coisas com os caboclos que o remem. Mas agora foi com o dr. Lustosa lá no São Vicente. Creio que o dr. Lustosa lhe havia avisado na outra vez. Agora... Desapareceram uns tachos, umas pranchas e umas rodas de arame do dr. Lustosa. O feitor nos disse que os tachos foram vistos no mato do Retirinho, vizinho do Santo Vicente. Somos obrigados a fazer uma vistoria, esta noite, dr. Mesmo o sr. sabe que o dr. Lustosa...
— Muito bem, tenente. Mas também sou obrigado a ir na diligência. Não, não, não há mal nenhum nisto. É um obséquio. A que horas sai a embarcação?
Encontraram-no, de madrugada, dentro de um covão no tabocal, enterrando os tachos de cobre. Sem serem vistos os [351] guardas cercaram-no. Quando os viu, Edgar Meneses saltou num arranco e prostrou-se ao pé dos homens, suplicando, surda e arquejantemente, que o não prendessem, vissem o nome da família. Pagaria os tachos, as pranchas, as rodas de arame. Edmundo, que até então se conservava oculto, avançou sobre o tio, gritou-lhe que se pusesse de pé, suspendeu-o pelos ombros, contendo o gesto de esbofeteá-lo. Face a face durante um longo minuto, tio e sobrinho permaneceram em silêncio, boiando da sombra à proporção que a luz do amanhecer descia, cinzenta e úmida.
Edmundo retirou-se para a embarcação sem lhe dirigir mais uma palavra durante a soturna viagem em que os remos batiam num tom cavo nas bordas do batelão.
Quando a diligencia regressou, Andreza soube no chalé do que se tratava e correu para ver o preso no xadrez.
Perguntou por ele aos caboclos que ali estavam. Estes não sabiam. Ninguém ainda havia entrado na cadeia naquela manhã. Desapontada, Andreza pulou para a prefeitura de polícia. Encontrou Edmundo de saída e o interpelou, imperiosa:
— Onde está ele?
— Que ele?
— Quero ele no xadrez. Mande botar esse seu tio lá.
Edmundo, à falta de qualquer resposta, tentou sorrir e segurou-lhe os pulsos. A menina escapou em direção da Intendência. Entrou na Secretaria, atracou-se às pernas do major Alberto a quem rogou, teimosa, que mandasse botar aquele homem no xadrez.
— Ele tem que dar conta de meu mano. Mande primeiro prender, senão ele me agarra, me leva...
Major Alberto, preso àquelas mãozinhas úmidas e crispadas, mandou Didico chamar o tenente. Pediu a este que transferisse o homem para o xadrez. O tenente hesitou, foi ao corpo da guarda e falou a Edgar Menezes que nada dizia, sucumbido, ignorando os motivos de tão inesperada transferência, depois de terem combinado que ficaria ali por uma semana na sala da prefeitura. Afinal era capitão da Guarda Nacional.
Enquanto esperava a volta do prefeito, major Alberto convenceu Andreza de que Edgar seria transferido e a menina [352] despediu-se tomando-lhe a bênção. O prefeito concordou com o Major que lhe havia proposto:
— Por algumas horas ao menos, para satisfazer a menina. Por mim, psiu, mandaria esse patife para a forca.
Para que não fosse posto entre os caboclos, conduziram-no ao xadrez das mulheres, que estava vazio. E assim que se assegurou de que todos haviam se retirado, Andreza surgiu, de repente, do trapiche. Foi se aproximando a medo, descalça, mãos fechadas, e olhou através das grades.
Então era aquele homem amarelo, barbudo, ofegando a um canto, que arrastara o pai pelo aterroado e dera sumiço no irmão?
Ele, por sua parte, a encarou, surpreso. Que é que queria aquela desconhecida menina? E que expressão tão linda, meu Deus, e de espanto, os olhos dela iam se enchendo de lágrimas, talvez tivesse pena dele, viesse talvez lhe perguntar se precisava de alguma coisa, e tapou o rosto com as mãos. Mas logo ao grito rouco da menina, esbugalhou os olhos para aquela careta de choro, aquelas mãos desesperadas nas grades e as palavras infantis em seus ouvidos como pedras:
— Onde deixou meu irmão? Que fim deu ao mano? Que foi que fez com meu pai, por que... Onde está meu mano, o mano...
Andreza batia as mãos nas grades, batia os pés no chão como se estivesse pisando a cabeça do assassino. Gaguejava e cuspia para dentro num desespero e numa cólera que a abateram, por fim, junto à porta do xadrez, onde por algum tempo choramingou numa queixa sem esperança. Nada podia fazer contra aquele homem. Amanhã sairia ele dali, procuraria invadir o pardieiro do tio e arrastá-la na corda como arrastou o pai, levá-la como levou o irmão.
Quando ergueu o rosto, Lucíola lhe estendia a mão frouxa, acenando-lhe com a cabeça. De punhos crescidos, Andreza gritou, com a boca a tremer:
— Mande primeiro ele me dá meu mano, ande.
Saltou das mãos de Lucíola para tropeçar e debater-se nos braços de Edmundo que a carregou ao peito, olhou fixamente para ela, para os seus fundos olhos araçás, sério e pálido:
— Vamos. Que é isto. Você vai morar conosco. [353] Procuraremos o seu mano.
Andreza sentia em seu rosto ardente um hálito de fumo, o pico da barba e num repelão mordeu-o no pescoço, escapulindo-lhe dos braços como uma cutia braba.
Via-se perseguida na rua, enfiou pela padaria e atirou-se atrás do forno sobre um monte de lenha onde, à tardinha, Alfredo foi buscá-la, silencioso, a mão no seu ombro. No meio da rua, quase sem poder manter-se em pé, d. Amélia chamava-os.
À noite, os dois meninos aguardavam a volta do preso que, em companhia de Edmundo, fora jantar na casa de Lucíola. Mas Sebastião os recolheu ao chalé.
Depois que os dois Meneses saíram, Lucíola durante horas esteve sentada à janela. O noivo resolveu passar a noite no corpo da guarda, com o tio.
Era a d. Doduca que vinha fazer a primeira prova do vestido.
Retirando do embrulho a musselina alinhavada, a costureira despertou em Lucíola a lembrança daquele lilás lustroso com que amortalhou o cadáver de sua mãe. D. Doduca não parou de falar, queixando-se das conversinhas que se espalhavam sobre as viagens continuas da filha na lancha “Lobato” e na “Guilherme Feio”.
— Só porque a mea filha não teve o capricho de agüentar até o fim na Escola Normal. Só porque não pude depois meter ela na Escola Prática ou na Fênix, lá está mea filha na língua dos outros.
Lucíola viu intenção da costureira de transmitir o que andavam falando a respeito do casamento. E atalhou:
— Olhe, d. Doduca, é uma coisa que não me importo.
Por que falara em “ir atrás de fazendeiros”? Quem sabe se desejava ou lastimava que, em vez de escolher a filha dela, Edmundo procurasse logo quem...
— Pois não me importo. Que falem.
Disse isto, amargamente curiosa do que havia de novo a seu respeito, do que pensava a própria costureira. Essa curiosidade era uma nova forma de torturar-se e ver em tudo hostilidade, inveja, mau agouro contra a sua vida.
A costureira com o vestido em pé à sua frente e com a almofadinha de areia onde punha os alfinetes, olhou vivamente para a moça.
[312] — A gente não se incomoda mas... Tu não sabe o que é inveja, mea filha...
E suspirando continuou a olhar o rosto encerado de Lucíola, a testa mais larga, o peso da insônia nos olhos, a lividez da boca, o silêncio. Indagou a si mesma por que Lucíola não mandava tirar a batata do tajasol, ralar bem e passar o polvilho no rosto. Este ficaria mais limpo, as cores reapareciam. Tomasse também o chá da socuba. Mas não se atreveria a aconselhar. Ou seria melhor dizer?
Atreveu-se e esperou a resposta. Lucíola sorriu apenas. Foi lavar as mãos como se fosse também lavar a alma para enfiar o vestido.
A costureira esperou na sala, tentando lobrigar alguma coisa que lhe fizesse sentir um ar de noivado naquela casa.
Enxugando as mãos numa velha toalha encardida, a enxugar no íntimo as lágrimas que deixava de chorar, Lucíola convidou a costureira a entrar no quarto.
— Mas, mea filha, aqui na sala tem mais claridade.
— Tem por causa da janela aberta e a senhora sabe que não vou provar isso com o povo da rua vendo.
— Que povo da rua, mea filha? Onde está esse povo?
— E melhor a senhora vir pra cá pra cozinha. Aqui tem claridade.
Por que aceitara d. Doduca para sua costureira? Era a melhor, explicara Didico. Costurava tão bem a roupa quanto a pele alheia. Quanto assunto teria dado ela para aqueles serões de Doduca? E a tarde da carruagem, o risinho, o olhar, a tosse escarninha de tuberculosa, esquecida da filha que subia e descia em lanchas nas redes dos fazendeiros e dos advogados?
Com o vestido no braço, d. Doduca perguntou então se o véu e a grinalda, o buquê, haviam chegado. Lucíola mentiu que não. Recebera também os sapatos brancos com fivelas, as meias, a liga, o leque e escondera tudo no fundo da mala. Mentiu ao próprio Edmundo que lhe havia perguntado pelas encomendas. Estranhou a demora e não pôde saber, de verdade, pois a lancha, que as trouxera, subira e descera na mesma noite. Lucíola aguardava um dia [313] melhor para dizer-lhe. Nem mesmo Dadá sabia. No entanto, a costureira não se enganara porque na lancha em que chegaram as encomendas, a filha veio e conseguiu com o mestre Sílvio revistar as peças uma por uma no beliche.
Enfiou o vestido longo e lustroso, cheio de alfinetes. A costureira foi provando e sempre conversando, ciosa de sua obra e ao mesmo tempo considerando estúrdio que aquele vestido fosse feito para Lucíola e sobretudo para uma moça que se ia casar em circunstâncias tão esquisitas na opinião da maioria da vila. Ajoelhada, no trabalho do ajuste, desalinhavando aqui, pregando ali, d. Doduca imaginava vestir a filha, a filha que quisera ver normalista ou bem casada e lutava agora em continuar a dizer que ainda era moça donzela. Para disfarçar, passou a falar sobre vários assuntos. Lucíola permanecia ereta, tensa, como se estivesse exposta a todos os que freqüentavam dia e noite a casa de d. Doduca.
A conversa da costureira subia-lhe como um sopro da maledicência da vila, devassando-lhe toda a vida secreta. Sentia-se naquele vestido dentro do mundo de Marinatambalo. Lembrava-lhe o pavilhão onde encontrara os restos e trapos das festas de antiga mente, sedas velhas, fantasias de carnaval, o espartilho negro, as roupas adúlteras de Adélia Meneses, como se fosse tecido de todos aqueles retalhos mofentos e puídos, dos fantasmas e das pragas que desabavam sobre os Meneses.
— Lucíola, dr. Edmundo não veio hoje?
— Ainda não. Mesmo ele não vem todo dia.
— Tão longe, não? E que deu nele para amansar aquele búfalo... Também aparece com aquele búfalo preto como um príncipe... Olha que ele é bem bonito. Vem espigado em cima do bicho.
Lucíola, silenciosa, deixou que a costureira ajustasse a cintura. E por causa do silêncio da moça, d. Doduca deu corpo ao pressentimento manifestado por muita gente de que o dr. Edmundo não a pedira em seu juízo perfeito. Lucíola sabia disso, sua tristeza explicava tudo. Aquele homem montado num búfalo não podia regular bem.
A costureira colocou na mesa a almofadinha de alfinetes e voltou a ajeitar o busto — “minha filha ficaria tão bem neste [314] vestido, com aquele corpo que ela tem, meu Deus... — a eliminar pregas, a alisar alinhavos, as dobras da manga e recuando uns passos — penso que só a Celina bate mea filha em porte, em garbo...” — examinou o efeito do vestido em Lucíola como se fosse na filha.
A moça estava entretida consigo mesma, refletiu Doduca, que nem parecia no mundo. O vestido ficava uma beleza, confirmava mentalmente, sem entusiasmo para dizer à noiva que não se encontrava dentro dele naquele instante. Onde estaria? Em que pensava?
D. Doduca inquietou-se, recordou casos misteriosos em matéria de casamento, o rol de coisas que aconteciam. A impressão que tinha, agora de Lucíola, ajustava-se ao seu pressentimento e às suas superstições. Via-a descorada e abatida, amortalhada naquele vestido. Compadeceu-se um pouco e prosseguiu a prova com demora, a paciência que lhe dariam tempo para insinuar uma conversa a respeito de falatórios na vila. Queria aconselhá-la a tonar uns passes, a consultar uma experiente, a pedir ao dr. Edmundo que a mandasse a Belém... Quem sabe se uma doença íntima, misteriosa... Sua filha, ao contrário, era sadia. Que beleza foi ela quando, uma vez, ao encontrar uma cobra no banheiro lá no fundo do quintal, saiu nuinha debaixo da chuva! Mas amanhã? Que será de sua filha?
Voltando a Lucíola, veio-lhe esta indagação como um choque: Ou Lucíola não é mais donzela?
Aqui a costureira aprofundou a sua reflexão, procurando recompor a vida de Lucíola. Algum caso, alguma conversa... As moas guardavam tanto mistério consigo. Aquilo que elas tinham de mais precioso estava exposto a tanto perigo, a tanta cilada, a perder-se tão imprevista e facilmente.
D. Doduca demorava. Teria certeza de que a sua própria filha deixara de ser uma moça? Temia perguntar-lhe, vendo que não era possível se enganar mais.
Lucíola impaciente. Foi aí que a costureira se lembrou de lhe contar da prisão de um pajé na Madre de Deus, começou a falar os meuãs aparecendo de certa época para cá no Arari.
[315] — Lucíola, tu acredita em meuã, em gente metida com bicho?
E para surpresa da moça, foi contando o parto da cabocla que descansou só vermes ao pé da socubeira.
— Por que a senhora se lembrou de me contar isso, sem mais nem menos, d. Doduca.
— Uai! que tem, Lucíola? Tu já sabia? Há algum mal?
— Não, não. Me tire logo este vestido do meu corpo. Me tire. A senhora conversa mais que prova.
Arrancou o vestido que caiu nas mãos da costureira e deu alguns passos pela varanda, muito agitada, de anágua, dirigindo-se ao quarto à procura da saia que vestiu.
A cabeça pesava, ímpetos de lançar no fogo aquele vestido, de chorar longamente abraçada a d. Doduca. Mas por que todos esses movimentos, por que aquele seu modo brusco diante de uma mulher a bem dizer estranha e inimiga?
Não sabia explicar. Esperou que a costureira aparecesse à porta do quarto e, como uma mãe, a fizesse deitar, lhe embalasse, de leve, a rede.
D. Doduca ficara sobressaltada. Lucíola, a uma simples história, eriçara-se como porco espinho. Mas não se arrependia de ter contado o caso. Surpreendera talvez na noiva algo que era a chave de todo aquele casamento, pensou.
D. Doduca, me desculpe. Foi uma dor de cabeça. Assim de repente. E tenho me atarefado um pouco, me consumido estes dias. E a senhora sabe de alguma coisa de mim por aí?
— Mas, mea filha, não se impressione. Não, não ouvi nada. Já lhe disse sobre o que falam da mea filha. Escurece isso tudo. Olha, manda rezar na tua cabeça. Tu precisa de uma oração no pescoço contra a inveja... a dor de cotovelo...
— Mas inveja, d. Doduca? De mim?
A costureira embrulhou o vestido. Vendo-a preparar-se para sair, Lucíola repentinamente passou a gracejar sobre os meuãs, a inveja, as dores de cotovelo, rindo.
— Por isso que sua filha nem liga, bem, d. Doduca? Mas ela nem pensa em casamento? Também não sabe como escolher. Vai sozinha a Belém, vem nas lanchas e nem liga... a senhora acha que [316] a gente não deve se importar, não é?
Que estranha transformação, refletiu d. Doduca, entre surpreendida e ferida pela intenção da moça.
— Espere. Vou fazer um tacacá pra nós. Um compadre meu lá das Pindobas trouxe tapioca e tucupi. A senhora fica. Passa o resto da tarde comigo. Dadá foi pra casa do Saiu. E olhe, lhe conto também o que se deu com uma conhecida minha. Assim foi que me contaram. Hum... A gente vive aqui e vai se impressionando. Ah, d. Doduca, essas coisas podem acontecer com as moças de 18 anos, novas...
A costureira sentiu que era com a filha, mas suspeitou também: que teria acontecido com ela, algum bicho lhe mexeu, um rapaz na sombra de um meuã, quando era mais nova? Por isto era aquela agitação toda?
E com o tacacá no fogo, excitada, Lucíola resolveu contar o que sucedeu à Diana, que conhecera há tempos, muito mocinha ainda, quando veio se crismar na passagem do arcebispo pelo Arari. Diana era a filha mais velha de seu João Lúcio de Oliveira, uma família que morava no Anajás, vivendo de um gadinho e peixe salgado. Depois que perderam tudo que tinham naquele rio, foram morar no Maguari. Uma vez, numa festa de aniversário, às nove da noite, após a ladainha, a casa cheia, quando começaram a dançar, Diana viu subir no jirau um rapaz desconhecido. Entrou no salão dirigindo-se logo para ela como se a conhecesse de muito tempo. Foi a orquestra tocar, ele tirou Diana, e tal era a ;raça do rapaz, o dançar e a conversa — cheirava, então! — que Diana não mudou mais de cavalheiro.
A moça parou a narrativa, para tomar fôlego. Mexeu-mexeu com a colher de pau na panela do tacacá e voltou à história. D. Doduca junto ao fogão, escutava, fazendo o molho de pimenta.
— Bem, disse Lucíola. Quando deu meia-noite o rapaz falou assim: Diana, estou muito cansado. Da viagem, talvez. Remei foi muito pra chegar aqui. Agora eu quero que me arrume um quarto, me feche nele, tire a chave e guarde sem mostrar e dizer a ninguém.
Como o rapaz pediu, a moça fez.
[317] Deixe estar que havia outra moça, de apelido Miúda, acompanhando todinho o namoro. Viu o jeito, já muito na vista, deles dançarem e quando o moço entrou no quarto. Deixou passar um tempo, experimentou se a porta estava mesmo fechada, empurrando-a com o ombro na passagem para a cozinha. Fechada. E entrou a tocaiar Diana. Tocaiou, tocaiou, até que se aproveitando de uma distração dela tirou-lhe a chave.
Rápida, abriu o quarto e recuou de um salto, gritando ao ver, enrolada na rede, uma negra e enorme cobra dormindo. Diante do povo que se amontoou, mundiado, a cobra ergueu então a cabeça com dois olhões amarelos que brilhavam como relâmpagos e falou ainda na voz do rapaz:
— Ah, Diana, tu me traíste. Mas tu me pagas.
Desenroscando-se toda, crescendo imensamente, a cobra soltou um urro e arrastou consigo a casa cheia, o jirau, o sítio inteiro, as embarcações para o fundo.
Lucíola, naquela noite, recolheu-se sem dizer mais uma palavra na casa velha.
Rezou longamente, sentada na rede, sem sossegar porque além de seus pensamentos, Dadá, defronte, dormia soltando exclamações:
— E. E um ovo. Um ovo!
Lucíola ergueu-se olhando para a irmã que se revirava, as coxas cabeludas, um braço fora da rede, boca de agonizante, caindo depois numa agitação entrecortada de apelos surdos e gemidos.
Aos poucos foi aquietando. A tempestade do sonho havia passado pelo solitário corpo da irmã que agora dormia. Lucíola deitou-se, cheia de calafrios e de suposições sobre o que diria a costureira lá fora depois do que vira ali dentro. Que me deu na cabeça para falar em Diana? Assim estou alimentando a maledicência, crivando de abusões e de suspeitas a pessoa de Edmundo. Estas reflexões doíam-lhe como remorsos. Tinha dado à costureira as aparências de uma mulher inteiramente maluca. E que queria d. Doduca ao lhe falar no búfalo, na cor do búfalo, na beleza de quem montava no búfalo... Sabiam que Edmundo era um Meneses, [318] embora duvidassem ainda de que estivesse pobre. Por isso então a perseguiam e a cercavam como se todas as bocas e todos os olhos do mundo estivessem voltados para o seu casamento, sussurrando e espiando? Como se a tranqüilidade da vila dependesse da não realização daquele casamento.
Parecia-lhe que a diferença entre ela e Edmundo a todos ofendia, violando as Leis da natureza. O fato era que sob essa diferença havia outra que ela afinal não sabia ainda explicar nem a si mesma qual seria. Edmundo naquela polidez tinha uns modos sombrios, contraditórios, repentes esquisitos — como o de acariciar o búfalo, dizer-lhe ao pé do ouvido que o búfalo era a sua grande propriedade, o projeto da exploração dos mondongos — em que procurava talvez esconder ou esmagar essa cobra grande que havia nele, o gênio dos Meneses. Isto os separava de uma outra maneira e secretamente ou era próprio da diferença que todos viam?
Lucíola chegava a compreender que essa secreta incompatibilidade poderia levá-la a apaixonar-se. A história de Diana não seria um aviso? Indagou ela.
Por outro lado, a avó de Edmundo na sua loucura insinuava que o malefício partia de Lucíola. Esta fizera, clamava ela na caleche sob o bosque, com que Edmundo abandonasse por completo as idéias da restauração da fazenda.
Lucíola ora desprezava, ora temia a velha Meneses. Planejava ir ousadamente a Marinatambalo um dia e pedir-lhe que tivesse pena dela, a ajudasse porque Edmundo necessitava das duas. E era estranho, refletia, que as mulheres da vila não estivessem de acordo com a velha Meneses. Podiam considerar que o casamento fosse até mesmo um crime, mas a culpa não provinha de Lucíola. Uma outra levantaram suspeitas contra ela surdamente e não pegou.
Lucíola não negava, no íntimo, que antes chegara a imaginar coisas para casar-se. Mas veio Alfredo, a ferrugem da solidão, Longas dores de erisipela. Os homens foram ficando tão impossíveis quanto insignificantes.
Agora lhe aparecia um deles, diferente deles. A sua razão lhe indagava: que relação existe entre este casamento e a desgraça de [319] Marinatambalo? Que serei para esse homem que me escolheu sendo eu Lucíola Saraiva e ele Edmundo Meneses? Que é que se esconde afinal por trás desses acontecimentos inesperados e cercados pelas incontinências de d. Amélia, a ambição de Alfredo, pela maledicência, a superstição, a desconfiança e a fama dos Meneses? Que serei para esse menino, de hoje em diante, e que vantagens terá ele com este casamento nascido daquela fuga?
Crescia também o seu temor ante a aproximação da data do casamento ainda não marcado. Imaginava o pudor ridículo que se apossaria dela ante o contraste físico revelado por inteiro, em toda a sua nudez, a certeza de que permaneceria inerte, repelida pelo que não lhe podia dar, como se, de tanto esperar, tivesse o sexo morto.
Ele, por sua vez, não lhe dera um beijo. Nem ela o queria, nem uma só vez conservava a mão na sua, por alguns momentos, o que nunca deu ensejo. Frio e polido sempre, despedia-se e, antes de montar, alisava a fina mão muito branca no lombo escuro do búfalo. Recordava-se do que disseram algumas impressionadas ainda com a caleche, o ar estático dele em cima do búfalo:
— Casando com ela poderá ao menos provar que esta vivo.
De todos os seus temores, o mais oculto era o de que poderia apaixonar-se, com a espécie de paixão à sua maneira, transferida de Alfredo e por isto mesmo agravada. E o menino? Que pensava do casamento? Era o que tanto desejava saber. Continuava alheio, mais diferente depois da fuga malograda, fingindo ou não indiferença pelo noivado, talvez por conselho da mãe, quem sabe se envenenado com o que Andreza lhe transmitia.
Transtornada com todas as conversas e abusões, gestos e silêncios que se acumulavam em torno dela, concluía, compreendendo que deveria enxotar de si o começo de terror e os seus tormentos.
Nos últimos dias, ouvira rato chorar no telhado e isto era sinal de morte, preocupou-se com o gafanhoto de boca preta encontrado na varanda, que era também de mau agouro. Agora as rasga-mortalhas voavam por cima da casa, rasgando-lhe com seus berros o vestido da noiva, o véu, a grinalda, o coração aterrorizado.
[320] Apanhou o cachimbo da mãe que guardava no oratório, encheu-o de fumo. Sentiu-se meio tonta, tossindo, sufocada. Edmundo, certamente, estaria caçando jacaré montado no búfalo ou pensando atravessar o mondongo. D. Marciana daria ceia aos seus fantasmas que em paga lhe contariam crueldade dos Meneses. Alfredo...
Um cochilo forte assustou-a como se a levasse por entre fundas brechas de um terroadal.
Sonhou depois que estava na noite do casamento dentro de um quarto forrado de espinhos e ananases, a música tocando em cima da casa. Defronte o noivo numa rede. Quando viu foi, em lugar dele ou de dentro dele, surgir um rolo de cobra que lançou o bote e a envolveu... Aí gritou. Dadá deu um salto da rede, com os seios pendentes por entre os rasgões da camisa, os olhos pulados:
— Hein? Que foi? Lucíola... Que foi?
Lucíola acordou, virando-se para outro lado, desta vez sem sono algum, esperando que os galos da padaria principiassem a cantar.
O noivo foi convidar o major Alberto para padrinho de casamento. A madrinha não era, por certo, d. Amélia que recusaria se fosse convidada.
Saiu do chalé meditando. Major Alberto, com quem conversava muito, não parecia da terra, à primeira vista. Não pisava descalço no tijuco e na lama, nunca pegara um remo, não pescava, não bebia, não fumava. Montar também não sabia, nem avaliar exatamente o preço de um boi. Tivera paludismo, a influenza, sabia da Revolução Russa. Tinha feridas e a pele branca permanecia fresca. Evitava os rudes contatos com a terra, mas identificava-se com ela, como dois amantes que não dormissem juntos e sem poderem separar-se nunca. Saturava-se do chão marajoara pelo ar, pelas resinas, pelas febres, as comidas, a preta, as longas sestas, as vozes do povo e parecia chegado ontem. Nem um indício de embotamento ou de cansaço. Fraco e comodista na aparência, [321] conservava em suas fibras uma sossegada vitalidade que se comunicava secretamente com a terra. Tornara-se propriedade desta, em vez de ser o proprietário. Pôs-se então a pensar naquela selvagem visto paradisíaca de Marajó que o embalava na Inglaterra. E havia sido expulso do paraíso antes de o ter encontrado. O pior foi que ao tentar conhecê-lo, encontrou o paraíso destruído.
Ao entrar na casa de Lucíola, sorria pensando obscuramente:
E aqui estou atrás de Eva como se ela e a sua jibóia do telhado me dessem o fruto para que eu me torne Adão.
Pelo menos, nascido de uma costela de Eva, concluiu.
Andreza conseguira levar o amigo aos seus passeios. Andavam longe pelos campos, tão soltos em tão longas tardes que Lucíola não escondeu as suas preocupações. Para impedir o menino de ir à lagoa onde os dois soltavam barquinhos de miriti e peixes furtados à5 canoas de pescadores, contou-lhe dos encantos e malefícios que as lagoas têm. Falou, de modo misterioso, da arraia grande-grande, que nascera no Arari e mudara para debaixo da lagoa quando ainda nem sinal havia da Cachoeira de hoje. Quando a lagoa se agitava era porque a arraia se mexia. Se esta saísse de lá, a lagoa iria em cima.
Alfredo sorria pelos olhos, coçando os mucuins do corpo, apanhados nos loucos passeios com Andreza. Roxos os lábios de tanto chupar pixuna, pernas esfoladas de subir tanto nas árvores, pés ariscos e duros de tanto correr em torrão de aterroado. Andreza, retinta do sol, tinha os olhos mais salientes como aquela areia engolidora cor de lama que reluzia de malícia, estouvamento e fome de caminhar nos descampados. Andava agora com um vestido feito de três panos, preto, amarelo e encarnado, que nem uma cobra coral.
Como não pudesse evitar que Alfredo fosse à lagoa, Lucíola falou-lhe diretamente:
— Fredinho, você acha que aquela pequena serve para anda na sua companhia?
[322] — Que pequena, nhá Lucíola?
— Essa menina... A Andreza.
Alfredo deixou o sorriso de fingida incompreensão boiar em seus olhos. Não. Não conhecia essa menina Andreza. Quem era? Nunca tinha ouvido falar de semelhante nome. Mas, de pronto, lhe fez a pergunta:
— Por quê? Agora não é mais a lagoa? E a Andreza?
— Você tem reparado bem nos modos dela? Querendo saber de tudo e...
— Ela falou de seu noivado, nhá Lucíola? Ela falou do que andam dizendo do dr. Edmundo?
— Que é que andam dizendo?
— Nada... E escute, não se pode andar sabendo de tudo, a gente não pode se meter onde a gente não é chamado.
— Mas com essas caminhadas pelo campo...
— Primeiro a senhora falou mal da lagoa. Pra acreditar mesmo, queria ver a arraia. Falei com Andreza. Ela me disse que talvez sim, talvez não. Não era bom tirar o tal do encanto da lagoa? A gente pegava a arraia, Andreza comia, pronto. O tio dela anda sem comida, coitado. Era ou não era?
Alfredo, que disfarçava o seu temor ao mistério da arraia, viu foi a confusão de Lucíola e foi-lhe delicioso torturá-la, descobrir-lhe talvez a mentira sobre a lenda, medindo também o quanto ele a dominava ainda.
— Só sei que a companhia dela não lhe convém. Uma menina sem juízo como nunca vi neste mundo.
— Nunca? Nunca? No mundo inteiro? Na França? Em Calcutá também? Está falando a verdade? Jure. E por que a mamãe ainda não me disse isto que a senhora está me dizendo?
Alfredo ria, empinando o queixo num ar de menino solicitado e senhor da situação, os dedos bulindo no carocinho dentro do bolso.
Lucíola compreendeu que aquela menina lhe roubava os últimos frágeis laços que ainda o prendiam à casa velha. Porque, em toda a parte, estava Andreza, com aquele vestido de cobra coral dado pela d. Glorinha, senhora do promotor. Se o menino, lá uma [323] vez ou outra, aparecia na casa velha, eis que, como por um encanto, chegava a ciganinha, coberta de terra da cabeça aos pés, convidando-o pras correrias no campo, pros algodoais brabos, onde ficavam ocultos até a hora do banho. Desciam então à beirada do rio, jogando entrudo um no outro para regressarem ao chalé, irreconhecíveis.
Assistindo a um dos freqüentes bate-bocas no chalé entre o Major e d. Amélia, notou logo a ausência de Alfredo. E foi surpreendê-lo, tamanha uma hora da tarde, atravessando a lagoa, com água pela cintura, uma água que fervia ao sol. Andreza, atrás, levava o vestido em cima, como mesmo uma cobra coral enrolada ao peito, o rosto amarelo da manga que comera.
— Alfredo, você quer pegar uma febre? Nossa Senhora. Sua mãe não vê isso?
Chegando à beira, onde Lucíola os esperava, de chapéu de sol, Andreza derreou a cabeça, soltando o vestido que se colava ao corpo ensopado, e olhou de baixo para cima, como gostava, franzindo a testa:
— Não sabia que a lagoa era nossa? Estamos de bem com a mãe da lagoa. A arraia que a senhora contou ao Alfredo? Conversou com nós e disse: podem brincar que não ferrôo vocês, meus filhos. Me faz um bem ouvir as brincadeiras de vocês. Até sinto os pés de vocês dois me alisando...
Alfredo, pingando lama, mordendo distraidamente um talo de mururé, fechava na mão o peixinho que apanhara e murmurou: cuide de seu noivado, cuide de seu Bezerro Mole. Andreza, receosa da cara feia que fazia Lucíola, se escapuliu subitamente.
Lucíola, então voltou a falar do perigo das más companhias. Visse o exemplo do teatro. Tivesse cuidado com Cachoeira. Sob aqueles conselhos deslizava, mentalmente, uma outra camada de palavras e estas eram contra d. Amélia, contra aquelas cenas do chalé, com o desejo de que o menino visse o seu futuro no casamento dela e afirmava a si mesma que se ele lhe dissesse: “Case para me levar consigo” em um tempo casaria.
E Edmundo? Estaria compreendendo o poder daquele menino sobre ela, a ambição do menino, a necessidade de tudo fazer [324] para tirá-lo do chalé e dar-lhe a sabedoria a que aspirava?
Alfredo irritou-se despeitado com a fuga de Andreza, revoltado com os conselhos de Lucíola, compreendendo que as pessoas grandes viam a maldade em tudo. O mundo era de uma ordinarice tal, que as mulheres andavam suspendendo a saia para os homens e os meninos mostrando a bimbinha pras meninas. Nada prestava, tudo tinha a pouca vergonha dentro. Jurava separar-se cada vez mais de Andreza, de sua mãe, do chalé e dos adultos e, sobretudo, de Lucíola, porque esta levantava tamanho aleive contra Andreza. A menina, tão apressada, metidinha e maldosa entre os grandes, nunca lhe dissera um nome feio, lhe insinuara uma coisa proibida, fizera um s6 movimento suspeito quando sozinha com ele. Apenas naquele instante sentia que Andreza — com a qual brigava sempre, mas sempre quando estavam sós — o desfeiteara em presença de Lucíola.
— Sabe de uma coisa, nhá Lucíola, vou ficar mal com ela.
— Assim tão depressa? Não é preciso tanto... E o que andam falando de Edmundo? Você... é de seu gosto este casamento, hein Alfredo?
— Vou ficar mal. Não falo mais, nunca mais.
E o começo de júbilo misturado naquela ansiosa indagação apagou-se com a explicação de Alfredo:
— Não falo mais porque ela me deixou só aqui. Foi embora sem dizer porquê. Por que ela foi embora? Sabe que ainda estou aqui em Cachoeira por causa dela? Por que ela foi embora? Medo da senhora? Vergonha? Uma sem coragem. Ninguém podia nos proibir de brincar na lagoa. Ninguém.
O menino desapareceu pelo capinzal, certo de que mentira um pouco ao dizer que Andreza o retinha na vila. Não era isto inteiramente. Era também medo, o malogro da primeira fuga o perturbara e necessitava planejar uma viagem certa. Decidira tomar as mais serias satisfações com Andreza logo à boquinha da noite.
Na manhã seguinte, Lucíola, afinal, recorreu a d. Amélia. Encontrou-a calma, escolhendo café em grão para torrar.
[325] — D. Amélia, vim aqui, a senhora me desculpe. Talvez a senhora com tanta ocupação não tenha reparado...
D. Amélia, aí, fechou-se, sentindo um fio de indireta ou de escárnio e nisto se enganava porque Lucíola a temia. Como que se tornava mais preta ao tomar aquela atitude de defesa e prevenção que vinha assumindo desde alguns meses. Será que essa mulher vem se atrever.
— ... mas Alfredo anda em companhia dessa menina, a senhora sabe... Uma menina que veio daí dos campos, sem ninguém que cuide dela, coitada, sem classificação alguma... Mas Alfredo é que não pode estar pegando os vícios dela... A gente tem pena... Mas é uma menina quase perdida...
A falta de segurança no argumento, Lucíola gaguejava e d. Amélia riu.
Disse que agradecia o aviso, realmente a menina era muito levada. Acentuou que o seu filho vivia resmungão, malcriado, depois recaíra com a doença dos olhos e com novos acessos de febre assim como ainda não tinha podido levá-lo a Belém. A companhia de Andreza tivera isso de útil: tirava-o um pouco do chalé... (Um pouco? indagou mentalmente Lucíola). Não podia separar o filho daquela menina, por enquanto. Antes ela do que ficar na rede, nos cantos pelo chalé, trancado em si, chamando febre.
— E então, pra quando é os doces, disse d. Amélia, familiarmente, mudando de tom, tocando pela primeira vez no assunto.
Lucíola não respondeu, sorrindo, mais ossuda, a testa saliente com uns tons sombrios.
— Já marcaste? Olha, Lucíola, eu queria falar contigo sobre uma coisa. Mas tu não vai te aborrecer. Vai?
Lucíola, já de pé, estava de olhos esgazeados para d. Amélia. Tinha as faces em fogo, um tremor nas pernas, um dente começou a doer-lhe. Andreza subia e descia num redemoinho com o menino debaixo do braço. Por que ela lhe dissera: “Já marcaste?”, atribuindo a si uma responsabilidade que não tinha? Por certo, falavam que tudo dependia dela. Que Edmundo estava para servi-la em tudo. Em parte era ele mesmo que espalhava isso.
Com a pausa de acanhamento e de receio de d. Amélia, [326] Lucíola respondeu que a data não estava ainda marcada e voltou a sentar na ponta do banco como se não pudesse mais se suster de pé.
— Desculpe perguntar, mas vocês vão preparar a casa?
— Não... isto é... Não sabemos ainda. Didico precisa falar com Rodolfo...
Na sua confusão, pensou no velho sonho da mãe, dela e dos irmãos, o de mandar erguer ao lado da casa velha um chalé alto, de telha francesa e sacadas de ferro. Puderam erguer apenas os esteios, retirados depois com o suicídio de Ezequias. Agora nem mesmo podiam consertar a casa velha e Edmundo nunca lhe falara nisso. Ele talvez se sentia bem na casa assim, velha, em começo de ruínas porque era dentro do velho e do acabado que ele queria estar.
— Porque... se queres te preparar aqui no dia, não te acanha, tu podes receber teus convidados. A gente arma aqui na varanda a mesa. Te serve do chalé à vontade, aquela menina. Tu não te aborrece. E se não quiseres aqui, eu me ofereço pra ajudar a Dadá a arrumar a sala, lá. Como tu quiseres. Mas não te acanha. A gente serve um ao outro. E olha, Lucíola... Tudo que possam dizer do teu noivado, menina, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. E o melhor que tu fazes. Eu sou uma preta, Lucíola, mas abusão e conversinha comigo nunca pegou nem pega. Já joguei da porta de casa um embrulho imundo, disque feitiço contra mim. Fiz foi caçoada. Também não disseram que eu tinha enfeitiçado seu Alberto? Por que havia de enfeitiçar... Ora, ora. Teu noivo não é melhor do que tu. Em nada. Em nada. Ninguém é melhor do que a gente. Põe isso na cabeça.
Era como um desafio, pensou Lucíola, e com isto fazia a defesa de seu vício, negando-o. Também não falavam que o vício dela era o resultado daquele embrulho que varrera da porta há tantos anos? Desafiava. Naturalmente, se colocava numa posição de igualdade com ela, Lucíola, como se fosse a mesma coisa... E que interferência sem propósito! foi a sua indignação íntima de um instante.
Faria o casamento na Intendência. Não convidaria ninguém. E se convidasse, que tinha com isso? O soalho da casa cedia? Sim, [327] e daí? Quantos convidados? Uma humilhação a mais lhe fazia d. Amélia. Quantas vezes não zombaram do chalé do Major certos de que levantariam, todo de pau-amarelo e acapu, o chalé dos Saraivas! E agora para que aquele oferecimento? Tudo por causa do filho. Queria atirá-la nos braços de um desconhecido para melhor separá-la de Alfredo. Esse era o interesse dela, a ponto de oferecer-lhe o chalé para que a própria casa do menino fosse o lugar da definitiva separação.
Via no rosto de d. Amélia a satisfação maldosa, o empenho em disfarçar as suas faltas, o sorriso em que se concentrava tudo o que diziam daquele noivado, tudo. E se daquele momento resolvesse também a falar da embriaguez, dos escândalos, de que estava sofrendo castigos (sabia lá por quê... — o filho afogado? — com aquele furor de beber, sob o efeito do feitiço que zombara?).
Diante dela, escolhendo o café, d. Amélia mantinha-se tranqüila, acima do mal, dos erros, das paixões, desafiadora, como se nunca tivesse bebido. Até mesmo parecia mais nova, os dentes frescos, a boca pronta para cuspir numa Gouveia, os olhos sem uma sombra do que acontecia dentro de si e no chalé. Era uma senhora, não havia dúvida, a gente tinha que concordar. A preta sabia prender. Sabia recompor-se inteiramente e sem demora. Nem a lembrança de Maninha crispava aquele rosto aberto, liso, preto porem comunicativo que não se via em muitos rostos brancos e aquela voz corrente e amiga...
Entre duas estacas soltas do quintal, Andreza, com o rosto pintado, uns bigodes feitos e carvão, chamava d. Amélia para ver o entrudo. Alfredo fazia bolinhas e beijus de barro.
— Bem, d. Amélia, vou pensar no seu oferecimento. Desde já lhe agradeço muito.
Entrou na casa velha como se esta a tivesse engolido, escondendo-a para sempre no reboco de suas velhas paredes.
Lucíola, fora de seus hábitos, foi atrás de Andreza que entrara na padaria e apanhou a menina furtando pão enquanto o velho [328] Antônio lá dentro tossia à frente do forno, retirando pão torrado. Andreza não se deu por achada e confessou que era para o
tio. E subitamente desorientada, devolvendo o pão ao cesto, pediu-lhe apenas que não contasse a Alfredo. Lucíola comprou três pães que deu a menina.
— Mas agora está na minha mão, ouviu bem? disse a moça baixo. Qualquer coisa... e conto pro Alfredo.
Depois os viu juntos à sombra da Folha Miúda, arrumando caixotes, garrafas, potes quebrados, cacos de alguidares e cuias pitingas, uma lamparina sem fundo e cadeirinha de miriti. A menina, completamente outra, tinha um ar de desafio. Era a casa deles, estavam casados, dissera-lhe Andreza.
E grande foi o assombro em que ficou Alfredo, de olhos acesos para a menina. Como? Andreza não lhe havia dito nada. Ajudara-a por pura brincadeira, até certo ponto a contragosto. Tinham feito um tácito entendimento em montar aquela casa debaixo da árvore pelo prazer de carregar água do rio, fazer a louça, móveis, mesas, panelas, toalhas de folhas, o pilão feito da tabatinga.
— Pra que então tu mentiste, sua...
— Por nada. Me veio aquilo na cabeça e eu disse. E tu, que tu tem com isso? Toma, toma mea língua, dá um laço nela e arranca fora e joga pra piranha. Só assim tu me proíbe de falar o que quero. Anda, toma...
Recolheu a língua e baixando a cabeça, espichando o pé para revirar folhas do chão, disse, meio atrapalhadamente:
— Escuta... Eu fiz... Tu sabe que sempre ando errando, Alfredo. Tu também não me corrige, a culpa é tua. Ela me pegou tirando um pão lá do seu Antônio. Mas tirei porque meu tio me pediu esse pão. Meu tio quase não se levanta. Melhora, piora e vai piorando sempre. A gente não tinha um tostão prum pão. Tu tinha? Ela me deu três. Até guardei um pedaço. Está aí atrás, agasalhado debaixo das folhas. É pra ti. Eh, se ela soubesse que tu havia de comer do pão dela, em vez de três, dava dez.
Correu e trouxe o pedaço de pão para ele que recusou. Andreza deu os primeiros passos em direção ao rio a fim de atirar o pão n’água. Conteve-se lembrando-se do tio e o guardou.
[329] Alfredo afastou-se da árvore, esfregando as mãos viscosas do barro. Achava que a amiga se adiantara muito, numa insolência, num apresentamento que justificavam os cuidados e as intrigas de Lucíola. No fundo de seu constrangimento e mesmo de sua raiva, sentia-se envaidecido. Era necessário cortar as asinhas daquela pequena, concluiu com pouca convicção.
Andreza, silenciosa, foi atirando no rio as coisas de barro, quebrou a garrafa, pisou na bonequinha de pano, sua filha, que tinha a cara tisnada, amassou o fogão onde, sem fogo, as panelas ferviam.
Ante o lar destruído, resmungava muito baixo, os olhos ardendo. Jurou vingar-se de Lucíola, jurou nunca mais procurá-lo, jurou que havia de fazer com que ele não pudesse mais de dor de cotovelo, porque de agora em diante brincaria com os outros, escondida no algodoal.
Aqui seu ressentimento desfez-se em lágrimas. Mais tarde iria arrepender-se pela fraqueza que demonstrava diante de Alfredo. Tinha o coração mole-mole como ouvira falar lá na fazenda. Ela que queria exercer domínio, desejava correr, em pé, no pêlo de um cavalo brabo e galopar, galopar, como se fosse amansar aquele Bezerro Mole mal assombrado, de que falavam em Marinatambalo.
Alfredo não montava como ela. Ah, queria ser aquela princesa do lago onde os galos encantados cantavam, a princesa que os vaqueiros não podiam ver, pois se a vissem, regressariam ardendo em febre, ou morreriam como aqueles dois que, delirando, morreram falando nela, vista à beira do lago sentada numa raiz.
Alfredo podia ter nascido entre os livros do pai, cheio daquela raiva de não poder ir embora. Ela, porém, sabia coisas que ele ignorava, de gente, de bichos, de plantas, do seu pai morto, do irmão sumido, do rio. Como princesa, levaria Alfredo para o lago, teriam uma velhinha tomando conta deles. Quando os pescadores e os vaqueiros se atrevessem a querer desencantá-los, os seus encantos, o dela e o dele, ficariam dobrados.
Foi a amizade à lagoa que os reconciliou na tarde seguinte, ao notarem, surpreendidos, que a amiga secava a olhos vistos naquele verão.
[330] — Está secando, Alfredo. Que vamos fazer. Vai ficar como nos outros anos, seca-seca? A gente tem que lutar contra esse sol.
E começou a luta pela vida da lagoa. Andreza chamou os moleques da rua de baixo que riram da estranha lembrança. Concordaram, porém, em ajudá-los.
A lagoa cor de aço inchava ao sol, moribunda. Alfredo, então, se lembrou da cantiga de sua mãe, a história do rio morto. Tornou-se muito tempo pensativo que foi preciso Andreza acudir:
— Que foi? Olhe, mano, os outros estão trabalhando. Não pense que me esqueci de sua idéia. Não pense. E olhe, a gente tem que encontrar o olho d’água e proteger ele com folha verde. E quem sabe se a arraia não está é bebendo a água.
— A arraia recolheu a água do olho. Ela guarda a água, por isso a lagoa não morre.
Apesar de todo o seu ânimo, Andreza temia a arraia. Tinha seis anos, quando certa manhã viu um pescador, ferrado de arraia, gritando de dores. Uma velha disse qualquer coisa à mulher do caboclo e Andreza foi levada para um quarto, escanchada nua em cima da ferida do pescador. Ela gritou, mas lhe disseram que era para sarar a ferrada e que só uma menina naquela posição podia com o veneno da amua.
Andreza preferiu não contar essa história a Alfredo. Este responderia que era mais uma mentira. E indagou:
— Por que às vezes uma verdade fica passando como uma mentira, bem, Alfredo?
— A gente tem que pedir pro Damião trazer um barril d’água do moinho.
— Se eu te contasse uma verdade... E sobre a arraia.
Alfredo fez-se indiferente. Andreza calou-se.
Uma fila de moleques ia e vinha do poço do cata-vento com baldes d’água que despejavam na lagoa, já um pouco convencidos de que a estavam salvando.
A lagoa secava rapidamente, a água escoava para o centro, e da lama endurecida as terroadas apareciam. Fios d’água pegajosa fluíam pelas brechas, poças aqui e ali, morriam os raros peixes. Sapos pulavam entre a vegetação esponjosa e escura que [331] agonizava. Murchavam os mururés. Nem um pingo de chuva, o vento que vinha, vez por outra, vinha era queimando. A lagoa morria. Um moleque teve a lembrança de trazer um coto de vela e acender na beira.
— Pra que isso, Ezequiel?
— Ela está desenganada. Nem indo pro hospital da cidade dá jeito. Precisa de vela na mão.
Andreza apagou a vela, pisou-a, quis expulsar o menino. Prometeu dez tostões a Damião que, bêbado, rolava barris da água para o seio da lagoa. Foi preciso o delegado proibir.
Meninas furtavam dedais de casa que enchiam nos potes e nas moringas para dar de beber à lagoa. Canecos, cuias de Santarém, garrafas cheias, uma mobilização geral de todos os recursos para salvar a lagoa que já mostrava o seu casco do fundo, exaurida e muda.
Não encontrando o olho d’água, Alfredo e Andreza deslizavam no fundo e se detinham, no meio da lagoa com medo da arraia. Os moleques procuravam cobrir as poças com folhas de bananeiras. Andreza pensou, instantaneamente: se Alfredo fosse ferrado... ela se oferecia, sim, nua-nua para sará-lo.
Depois repararam que algumas aves bravias voavam em torno, habituadas que estavam a beber ali e foram escalados novos guardas que apedrejavam as aves. Andreza discordou:
— E onde elas vão beber? Deixem. A água é também pra elas.
— Elas podem beber no rio.
— E vocês sabem se tem o mesmo gosto, se não é essa água que faz bem a elas? Quem mata a lagoa não é as piaçocas, é o sol. Este sol...
E Andreza tentava olhar diretamente para o sol, a areia guio-se tornava amarela, as pestanas pareciam crestadas.
Se o centro, como um coração, mantinha alguma água para onde traziam socorros, o casco rachado e lamacento descobria o esqueleto da lagoa. O coração vazava sempre. Nem todos os poços da redondeza seriam capazes de salvá-lo. E Alfredo sentiu em todo aquele trabalho uma aproximação com os moleques como [332] até então nunca sentira. Estava igual a eles, que compreendiam a inutilidade da luta, mas continuavam ali fiéis, confidentes e companheiros. De certo modo, alegrou-se com isto como se triunfasse sobre Lucíola que os caluniava e talvez lhe permitisse combinar com eles uma melhor maneira de fugir.
Esquecera um pouco o carocinho, embora tentasse com este, uma vez, encher a lagoa. Misturava-se com os moleques que se deixavam comandar por Andreza, mas sempre caçoando, sugerindo que mandassem chamar seu Ribeirão, o farmacêutico, para acabar de matar a lagoa. Perguntavam se chegara a hora de encomendar ao seu Abade o caixão para a agonizante. Tinham que levar a defunta para o rio. Então imaginaram o enterro da lagoa. Como seria o caixão?
— Uma nuvem — gritou Andreza, espremendo o vestido de coral agora pesado de lama.
— Pra mergulhar no rio? Indagou Alfredo.
Não sabiam, confusos que se viram, naquele extremo até onde a conversa e a imaginação os levavam.
Esse acontecimento, para Lucíola, ligava-se a todos os fatos singulares que envolveram a sua vida naquele ano. Nunca vira meninos fazerem serviço daquela natureza, descobria neles intenções, pelo menos indícios de que algo havia ali contra o seu casamento também. Era uma maneira de Andreza reunir os moleques, perder Alfredo inteiramente, contar o que se dizia sobre o casamento. E olhando, da casa velha, aqueles meninos enlameados dentro da lagoa, pensou vagamente que eles bem poderiam um dia retirar dali o seu cadáver.
Viu-os saírem da lagoa, gritando pelos campos que haviam deixado um poço que conservaria pelo menos um indício de vida e daria para refrescar durante o sono a velha arraia.
— Assim estou eu, disse ela, à falta de quem me dê essa vida... Mas, na mesma noite, Andreza e Alfredo, de mãos dadas, foram correndo espiar e logo aos gritos tentavam afugentar os bois que beberam o último alento da lagoa.
[333] Depois de embaraçoso silêncio em que Lucíola tentava em vão puxar conversa, seu Firmino explicou:
— D. Lucíola, ando imaginando onde botar essa menina, essa minha sobrinha, a Andreza. A senhora sabe, um homem inutilizado como eu, com esta hérnia, quase cego. E a menina precisa de uma sujigação. Está muito asselvajada. A senhora viu ela por aí, agora?
— Não, seu Firmino... Não deve andar em companhia de Alfredo? Mas ninguém ainda quis ela, seu Firmino?
— Querer, d. Lucíola, já. Mas a senhora sabe, Andreza não amansa com duas montadas. Quando quis entregar ela pra d. Violeta, nem calcule. Se agarrou comigo, falou bobagem, disse que eu queria ver ela na casa dos outros para viver apanhando. Gênio do avô e do pai tem ali.
Lucíola não respondeu. Ali estava outro para torturá-la, disse de si para si. Tanto que se esforçava para não pensar em Andreza e no que aconteceu com a sua família. Teria vindo por instigação de alguém? D. Amélia? a própria Andreza? Doduca?
Sabia que Andreza era da família dos Bolachas, perseguidos havia anos pelos Menezes. A última vítima vinha pedir socorro a quem ia se casar com o último Meneses, que teria de expiar pelas culpas da família.
Pediu, então, a seu Firmino, informações precisas a respeito de Andreza. Surgiriam novos horrores. Vinham à tona sobre aquele casamento todos os podres dos Meneses.
Seu Firmino tinha um sossego inocente. A princípio hesitou, ignorando que Lucíola sabia mais ou menos o que acontecera. Poderia ofendê-la, embora dr. Edmundo não fosse culpado de tudo o que se passou. Quando ele lhe quis contar alguns episódios, Lucíola ergueu-se bruscamente e explicou-lhe que conhecia a história e o disse, de tal forma que fez o tio de Andreza despedir-se.
Só, na varanda, a cabeça apoiada na mesa, Lucíola tentava reproduzir a história. Não teria havido exagero? Não pôde saber inteiramente como os fatos se deram. O inevitável era que Andreza ficara e restava Edmundo. Entre os dois, ela, Lucíola, como noiva, como a ponte em que os dois poderiam reconciliar-se e esquecer tudo.
[334] Ora, o avô de Andreza, seu Manuel Bolacha, fora o dono das terras de Santa Rita, à margem do baixo Arari. Umas duas mil braças de fundos onde chegara a criar meia dúzia de cabeças de gado. Para mandar a mulher a Belém tirar um quisto, de que morreu na mesa de operação, o velho tivera de vender as reses, desfazer-se dos cavalos. Ficou ainda com a casa de telha, toda avarandada, uns roçadinhos, medrosos de tombarem na maré, o chiqueiro com uns porcos magros e o curral de peixe. Seu Manuel Bolacha com o desgosto quis se desfazer de tudo e partir. Abriria em Belém uma quitanda para sustentar a educação da neta.
— Tu não fica burra nas meas mãos, mea neta. Tu, não — dizia à netinha que choramingava nos seus braços.
Era um velho caboclo esguio, ossudo, a barriga funda, movimentos mansos, o olhar renitente.
Tratou de procurar comprador para Santa Rita. Subiu o Arari, os oferecimentos eram ridículos. Só baixou o preço em Cachoeira a um comerciante que não lhe poderia dar nem metade do dinheiro à vista. Entre a pena e o arrependimento de deixar a terra, obstinara-se a não oferecê-la aos Meneses, seus vizinhos, donos de Marinatambalo, que a queriam por dois vinténs a fim de estender o latifúndio até o igarapé Mauá que atravessava Santa Rita.
Resolveu fazer o negócio com o comerciante, mas este, ameaçado pelos Meneses, recusou. Seu Bolacha, então, voltou decidido tas a permanecer alguns anos mais à espera que a “neta ficasse mais taluda”.
— Tu, mea neta, tu tem cabeça que eu sei. Quando tua mãe as estava de vela na mão, prometi a ela que tu estudava.
Uma tarde, apareceu Rodolfo, já desde esse tempo oficial de justiça, levando-lhe uma intimação.
Os Meneses haviam requerido demarcação de suas novas terras anexadas a Marinatambalo e nelas incluíam mais da metade de Santa Rita. Alegavam ainda que seu Bolacha enganara uns herdeiros, apossando-se ilegalmente daquele trecho de beirada que lhes pertencia. Seu Manuel Bolacha correu ao cartório da vila, com os seus documentos embrulhados num jornal velho: uma [335] amarelenta folha de papel almaço, rota e borrada, roída de traça e uns recibos antigos. Desenrolou os papéis com dignidade e sobretudo com aquela convicção com que os pequenos proprietários exibem os seus títulos de propriedade.
O tabelião, seu Farausto, com a sua famosa neurastenia, que já fazia parte das mil e uma complicações do cartório, explicava-lhe, aspirando rapé, que a partilha entre os herdeiros fora feita sem inventário, sem formalidade judicial alguma e aqueles recibos nada valiam.
— Mas os herdeiros estão reclamando alguma coisa? Aqui está a prova do pagamento. Paguei. Fizemos tudo amigavelmente.
— Legalmente?
— Mas foi tudo direito. Agora se os herdeiros querem reclamar eu posso ainda me entender com eles. A gente concorda...
— Onde estão eles? Em que inferno se esconderam? Gritou o tabelião na iminência de um estrondoso espirro.
— Mas não são eles que estão reclamando?
— Por mim, seu Manuel, você ficaria lá até o diabo dissesse basta. M depois prestava contas ao Pai Eterno. Mas pelos Meneses, você... Afinal, por sua ignorância, deixou de legalizar a tempo... enfim, nem sei mesmo se eles não tomariam depois, com toda a legalidade. Agora e aceitar a dura lei.
O tabelião, impaciente, resmungou entre espirros, deu as cosa Manuel Bolacha que indagou, inclinando a cabeça:
— Perder as terras, o sr. disse, seu Farausto?
— Meu caro, olhe aqui o que diz o Código... e vou lhe ler razões do advogado deles.
Manuel Bolacha ouvia calado o relambório em que suas terras, a casa e sua neta se viam cercadas e sem saída.
— Os Meneses são Governo — exclamou, por fim, o tabelião voltando a espirrar sobre o Código Civil aberto na escrivaninha.
— Tenho os meus direitos, seu Farausto. Lá encalhei 30 anos. Criei caraca naquele chão, seu Farausto.
— Muito bem, seu Manuel, não me aborreça mais, não tenho nada com isso. Não sou eu que vou pro inferno pela injustiça que vão fazer com você. Mas, me diga uma coisa, isso tudo sem selo, [336] papel timbrado, firma reconhecida, sentença do juiz, registro em cartório, não tem valia, não vale coisíssima.
— Vou defender os meus direitos.
— Lá no inferno? Ora, ora, seu Bolacha, parece que você não conhece que sou um neurastênico, que perco a calma quando oiço essas tolices? O único jeito é você dar um tiro. Mas será homem morto noutro dia. Veja se consegue um entendimento amigável com eles. O advogado, mesmo se ganhar a questão para você, lhe tomará as terras para cobrar os honorários.
— Vou defender os meus direitos, seu Farausto.
O tabelião irritou-se, sufocado com a tosse; derrubou o Código Civil, pediu ao mesmo tempo um café de lá de dentro para o seu Bolacha, e concordou que os Meneses não tinham nenhum direito. Mas a Justiça estava contra o seu Bolacha. Nada podia fazer. Era naquele cartório, como tabelião, ponderou, um simples instrumento da Justiça. Apanhou o Código, serviu café ao intimado, queixou-se que aquele cartório era também o seu pelourinho.
Manuel Bolacha recusou embrulhar os papéis em jorna] novo e foi esperar os homens da demarcação em Santa Rita.
Atirando para o alto, fez Edgar Meneses recuar. Este mandou-lhe dizer que não continuaria a demarcar e forjou um corpo de delito para provar que dois vaqueiros seus haviam saído baleados. E enquanto o acusado, em Cachoeira, prestava depoimento, Edgar Meneses, à frente de seus capangas, em Santa Rita, ateou fogo nos roçadinhos, destelhou a casa, matou os porcos, surrou o filho de Manuel Bolacha que sarava de um baque na coxa. As mulheres se esconderam com as crianças no mato e até os santos do oratório, Edgar Meneses levou.
Manuel Bolacha cuidou primeiro de reaver os seus santos. Sem estes, sentia-se mais fraco e mais só, diante dos Meneses. Tinha que buscar, pelo menos, o seu Francisco das Chagas, de sua melhor devoção.
Cobriu-se de lodo, tingiu a cara na casca do murucizeiro, e entrou, à noite, noite alta, em Marinatambalo. Dirigiu-se à sala que servia de capela. Não teve ânimo de incendiar os pavilhões da fazenda. Chegara a marcar o lugar no pavilhão onde Edgar [337] Meneses dormia. Apontara o rifle. A bala, varando a parede, o atingiria na cabeça ou na perna, conforme a posição dele na rede.
Baixou a arma, pensando na neta. Subiu ao telhado, pôde abrir a janela da sala e caiu de joelhos, diante do oratório, onde estaria o seu pobre S. Francisco das Chagas.
Apanhou duas imagens e à luz de um fósforo reconheceu o seu protetor e mais o Santo Antônio de Lisboa que era dos Meneses. Ouvindo bulha no quarto ao lado, saltou, abraçado aos santos e desapareceu pelo bosque.
Os Meneses espalharam que Manuel Bolacha roubara as imagens de Marinatambalo para fazer o que fizera com as de Santa Rita: atirara-as no rio. Uma força da guarda rural de Cachoeira entrou em ação e fez Manuel Bolacha restituir os dois santos a Marinatambalo.
Ainda assim Manuel Bolacha passou alguns dias no xadrez. Numa hora de faxina, embarafusta por baixo dos trapiches, encontra um casco na beirada e foge para Santa Rita.
Depois de novas prisões e novas fugas, Manuel Bolacha em seu depoimento reafirmava que os Meneses lhe furtaram o oratório, mas confiava que os santos voltariam pelos seus próprios pés a Santa Rita. Sua esperança durou até nova visita dos Meneses ao sitio. Manuel Bolacha, solto dias antes, foi levado a Cachoeira numa rede, escorrendo sangue, moído de relho.
Apanhado em nova fuga, ficou amarrado como um jacaré vivo e nessa condição foi que recebeu o conselho do delegado de polícia: não voltasse mais a Santa Rita. Os Meneses haviam legalizado no cartório a posse das terras. Era inútil lutar contra a lei, contra o governo, contra os Meneses. Manuel Bolacha estrebuchou no soalho, Andreza começou a gritar no colo do pai que coxeava ainda e o velho foi solto.
Manuel Bolacha armou barraquinha de moradia noutra margem do rio defronte de Santa Rita. Os Meneses reclamaram a prisão do roceiro porque a liberdade deste ameaçava Marinatambalo. Lá foi uma diligência buscar Manuel Bolacha que se entregou, sorrindo, os movimentos mansos, a neta no colo, os velhos documentos no bolso.
[340] Depois de cinco dias de xadrez, Manuel Bolacha manifestou desejo de tomar banho. O soldado amarrou uma corda à perna do preso e o levou à beira do rio. Era no inverno, com a força das águas descendo, desciam também os “barrancos” com os penachos de canarana e os anus muito pretos pulando, como tripulantes dessas verdes embarcações. Bolacha olhou o rio, o seu rio, voltou-se para o soldado e propôs uma aposta.
— De que, seu Manuel Bolacha?
— De que levo meia hora no fundo d’água só de um mergulho.
— Ora, deixe de prosa, seu Manuel Bolacha. Tem fôlego lá pra isso?
— Quem tem fôlego pra lutar contra os Meneses, tem fôlego pra ficar meia hora no fundo. Dou aquela baúta de folha. E a mea aposta.
Manuel Bolacha entrou na água com a perna amarrada, passava a 20 metros um “barranco” denso de canarana, a corda estendeu-se presa à mão do guarda. Nessa ocasião, ilha de anus e de um guará vermelhíssimo que inclinava o bico cheio de malícia. Bolacha mergulhou, rapidamente lá no fundo tirou o nó da perna e engatou a corda numa pedra.
Foi boiar por baixo do “barranco” no meio das altas canaranas entre anus, o guará e um reino de formigas. Contavam que o guarda, durante minutos puxava a corda, encontrava o peso e dizia:
— Esse Manuel Bolacha tem fôlego mesmo. Só peixe-boi. Perdi a aposta!
Um mês depois, Manuel Bolacha foi visto com a montaria cheia de lenha subindo o rio.
Obrigaram-no a lavar o salão da Intendência Municipal onde se realizaria um baile em homenagem ao dr. Meneses, deputado estadual, que chegara da Inglaterra. Manuel Bolacha cuspiu e gritou: axi, que eu vou!
Arrastaram-no até o salão. Ele repetiu com voz mansa que não lavava. Foi preciso a intervenção do major Alberto que veio de seu gabinete e gritou, numa das suas explosões, contra a “selvageria”.
[339] Quebrado, com arrepios de paludismo, Manuel Bolacha foi agradecer ao Major e afiançou que continuaria a luta.
— O Major pode me ajudar como advogado.
— Agora é impossível, seu Manuel. Eu faria alguma coisa. Mas o Direito está agora do lado deles.
— O Direito, Major, o direito? Mas o direito...
E não disse mais nada o velho Manuel Bolacha.
A febre, violentíssima, o alcançou no meio da viagem em que remava no seu casquinho. Uma hora mais tarde, em estado de coma, rolou para o fundo da frágil e rasa embarcação que passou rodar lentamente na correnteza. Quando a apanharam encontraram o cadáver.
O filho de Manuel Bolacha, pai de Andreza, querendo cumprir antiga vontade do velho, pediu licença aos Meneses para sepultar o defunto nas terras de Santa Rita. Responderam que Santa Rita não era cemitério. Os amigos de Manuel Bolacha, então, fizeram um enterro para o cemitério do Itacuã, o caixão nos bancos da montaria à frente do triste acompanhamento pelo rio. Na realidade, Bolacha foi sepultado a uma hora da manhã dentro de um a rede ao pé de um acapuzeiro grande nas terras de Santa Rita.
Com a ruína dos Meneses, Edgar no seu retiro distante, continuou, porém, a fazer de vez em quando algumas das suas contra os que apanhava na sua unha. O pai de Andreza ergueu, então, uma barraca à beira do igarapé Mauá.
Edgar achou que era um desaforo. Estava arruinado, mas não admitia desrespeito à memória do irmão. Encontrou-o mariscando com o filho, o maiorzinho, disse-lhe que saísse do igarapé. O caboclo fez-lhe ver umas tantas verdades. O que bastou para que Edgar de cima de seu cavalo, de repente, armar o laço e apanhar João Bolacha pela cintura e arrastá-lo num galope doido pelo aterroado.
Estava já o homem botando sangue pela boca, arrebentado, quando o fazendeiro parou no meio do campo. Saltou e deu um tiro bem no peito de João Bolacha. E que fazer com o curumim que corria aos gritos e caiu em cima do cadáver do pai? Era tudo solidão. O menino, a quem chamava?
[340] Contavam que Edgar Menezes o enterrou nalgum retiro de Marinatambalo.
Lucíola andara fazendo perguntas a Rodolfo e este nada lhe quis adiantar. Didico chegara na mesma ocasião e foi quando se ouviram gritos na rua de que dois meninos estavam no meio do rio esperando a pororoca.
Lucíola desceu a escada e já atravessando o aterro, no rumo da margem, corria d. Amélia. Não havia uma só embarcação por ali na beirada, tinham que ir ao trapiche municipal. D. Amélia gritava chamando o filho.
Mas os dois meninos remavam tranqüilos no meio do rio naquela noite. Andreza tinha visto o seu Ângelo da Madre de Deus desembarcar da montaria e subir a ribanceira. Acenou para o Alfredo. Os dois pararam diante da montaria, surpreendidos. Era nova, pintada, cheia de cachos de banana verde, uma abelheira, a galinha e seis pintinhos, dois muçuãs enfiados num cipó, umas parasitas em flor, o feixe de folhas de maniva, a cuia de tapioca dura. Alfredo se lembrou do pedaço de floresta que encostara no chalé pelas águas grandes. Aquilo era um sítio que viajava também, subindo o Arari. Os pintinhos piavam. Andreza hesitou, olhando o amigo. Este fez sinal com a cabeça que era a sua resolução de desamarrarem a embarcação e partirem para esperar a passagem da pororoca.
E na hora em que alguém os descobriu, Andreza explicava o mistério da pororoca:
— E três pretinhos que vêm pulando na espuma da maresia, brincando, fazendo pirueta tanto que, quando a ribanceira tem pedra, eles atravessam mergulhando. Mudam de beira e vão aparecer mais adiante na cambalhota. Diz-que os pretinhos na volta vêm por terra. Por isto é que a pororoca não volta.
Ouviram os gritos e se assustaram mais do que se fosse a pororoca. A montaria descia na correnteza como palmeira de bobuia, em que os pintinhos se calavam, pressentindo a aproximação dos três curumins pretos. Alfredo manejava o remo com certa dificuldade. A popa era alta para ele, a embarcação pesava. Andreza no meio, o remo suspenso, tinha o ouvido à escuta. Ah, disse [341] consigo, se a pororoca voltasse de lá de cima do rio e levasse ele e ela para a cidade na cabeça dos três pretinhos! Riu e ao lhe perguntar Alfredo por que ria, Andreza afirmou que era uma besteira, não fosse atrás de tudo que lhe desse na cabeça.
Em meio aos gritos da beirada, os dois ouviram o barulho lá no estirão abaixo, crescendo pelo rio que estremeceu. Rebentou no fim do estirão, sendo possível ver o fio da espuma na crista da onda barrenta que avançava pela margem esquerda, como um punho fechado. Um movimento de assombro e de pânico assaltou o menino na montaria sem direção. A onda mergulhou, com os três pretinhos invisíveis, para estourar adiante, subindo, com o ímpeto e a velocidade de uma cobra boiúna em fuga. Rapidamente o banzeiro envolveu a montaria que subiu, desceu na cabeça e na cauda da onda em marcha, num embalo vertiginoso e virou.
Apanharam os dois náufragos entre os parasitos em flor que bobuiavam. D. Amélia carregou para a ribanceira a menina desmaiada. Alfredo tremia na mão de Lucíola que chorava e tremia também.
Disse a d. Amélia que levava Andreza para casa e trataria dela. Isso, pensou, agradaria a Alfredo.
D. Amélia teve ainda de vender o porco para pagar os prejuízos do dono da montaria.
O desvelo de Lucíola não impressionou Alfredo, que só uma vez e durante um minuto, foi visitar a doente. Esta observava que a causa da ausência vinha daqueles cuidados de Lucíola para com ela e não demorou senão três dias na casa dos Saraivas, fugindo para o pardieiro do tio.
Quando Lucíola lhe deu notícia da fuga, Edmundo, sem fitá-la, antes não lhe havia dito nada, interpelou-a:
— Afinal não consultou ninguém ao trazê-la para sua casa. Depois, já não compreendo mais o seu zelo pelo menino.
— O menino?
— Sim, o menino. A sua paixão por ele, o gosto de ser humilhada, torturada por ele. Que eu me torture pelo que já não existe, o que foi meu, parece razoável. Mas por uma coisa que está [342] viva e não é seu, nunca foi seu... Não está em tempo já de lançar fora esses hábitos e sentimentos? Em breve, será uma senhora.
Edmundo tossiu curto. Falava com polidez e intimamente com indignação, sentindo o enorme fosso em que tombara. A que chegara o proprietário, ter de lutar contra um menino, não ter, exatamente, um poder de senhor sobre aquela derradeira propriedade que era Lucíola... Apanhou o cachimbo, encheu-o e sondou com o olhar o velho telhado para descobrir a jibóia.
— E a jibóia? Não me apareceu hoje.
Uma senhora, repetiu mentalmente Lucíola. Uma senhora.
Lucíola surpreendeu-se ao vê-lo, naquele sábado, chegar tão cedo da fazenda. Desceu do búfalo defronte da padaria onde entrou e logo voltou acompanhado do Antônio padeiro.
Ficaram os dois juntos à cerca, numa conversa longa. O padeiro, de gorro, velho, o avental imundo, tossia. Escorado nas estacas, a mão afundada no grande bolso do dólmã azul, Edmundo escutava-o, a cabeça derreada. Trazia um chapéu de carnaúba, culote sem perneiras, as botas grossas de lama.
Lucíola, à janela, esperava-o.
Não o achava naquele momento tão bonito ou alinhado como supunham. Qualquer coisa nele desbotava-se, encardia e lembrou-se que o vira sair do atoleiro naquela visita ao mondongo. Por pouco, não tombara do búfalo na última quarta-feira, à frente das moças que vieram deixar uma amiga no porto. Ao passar no mesmo búfalo, diante de Alfredo, este riu e atirou inexplicavelmente o seu carocinho sobre os zincos do antigo gasômetro da casa do Coronel Bernardo.
Vai vê-lo amanhã, descalço, o rosto cozido ao sol, os alvos pés como cascos no aterroado e no fundo de limo e Iodo das embarcações. As pernas negras da picada dos mosquitos, de bolhas e perebas. Aqueles cabelos, gema de ovo batido, reduzidos a uma palha dura e suja. A camisa curta e entreaberta deixaria entrever uma fatia de barriga semelhante à polpa das melancias verdes. Falaria errado entre os caboclos, que saberiam escarnecer de uma [343] educação feita para pescar traíra, beber no Saiu, casar... Aqui Lucíola dobrou-se ante a própria insignificância. Por efeito desta, Edmundo passava a ser exageradamente bonito, a causar aquelas suspeitas, aquela confusão. No entanto, aceitava-o como se aceitasse mesmo pelo fato de ser absurdo. Submetia-se a todas as provas, a afogar nela a paixão materna por Alfredo ou a encontrar no casamento a possibilidade de atrair o menino depois que ele a visse “casada com um doutor”.
Edmundo acabaria seguindo para a cidade. Alfredo não resistiria à tentação e ela o levaria consigo. Com a convicção de que era estéril, não esperava ter filhos. Tendo Alfredo a seu lado graças a Edmundo, esqueceria a manhã de caça, ignoraria os espelhos e o contraste que a convivência diária dissiparia. Gostaria do verdadeiro homem que se guardava ali sob a casca de um moço educado na Inglaterra.
Que ouviria ele do velho português de tão importante? A mão eternamente no bolso. Curioso que tivesse esquecido o cachimbo.
Temeu que passassem moças naquela hora. Temeu Alfredo. Atravessado na rua, o búfalo. Teria este nascido antes do primeiro homem? Nunca ouvira Saiu dizer que houvesse búfalos na Bíblia. E não escondia o seu receio daqueles chifres de pedra, daqueles olhos em que se enfurnava uma imemorial e inesgotável ferocidade. Comparou-o a Edmundo: era um outro contraste, mas, no fundo, havia entre os dois afinidades. Um parentesco entre o animal, ela e Edmundo. Riu da boba reflexão causada pela conversa que não terminava. Ele acenou-lhe novamente que esperasse.
Duas moças passavam. Atentou para ver se ele as olhava, se notaria ao menos que as moças caiam num saracoteamento de meter mais pena que vergonha. Uma delas era a Emiliana, pernonas, os quadris saltados. Ele não fez sequer um movimento, nem no olhar. Nem ouviu que as moças o salvaram, gulosas dele. Por que Edmundo muitas vezes se mostrava tímido, tão reservado diante das moças? Ou timidez e reserva significavam respeito às mulheres? Não seria excessiva ou demasiado proposital essa indiferença? Por que ela e não Emiliana? Educação inglesa? Frieza ou desapontamento delas? Já lhe dissera na véspera que não teriam [344] cama de casal, mas leitos separados. Foi tal o seu choque, que teve um repente de perguntar-lhe, contendo-se a tempo:
— Nojo de mim? Horror de mim?
Vendo-o calmo, tão natural, compreendeu que era sem dúvida “um costume inglês” e talvez fosse melhor para ela também.
Avistou d. Amélia que chamava o filho através da cerca velha do coronel Bernardo. Em vez do filho, surgiu Andreza, coroada de folhas verdes. D. Amélia tinha o olhar parado em Edmundo, o sol no rosto negro. Esta, disse Lucíola para si mesma, meteu-se de uma vez no casamento. Compreendera que a preta a defendia e animava o seu noivado para melhor vingar-se contra as Gouveias, parentas dos Meneses. Estas haviam mandado chamar Edmundo e desfiavam a vida das Saraivas. D. Amélia contou-lhe e chegara mesmo a dizer ao próprio Edmundo que lhe perdoasse, mas aquelas suas parentas não prestavam. Edmundo riu e Lucíola descreveu-lhe o que sucedera a d. Amélia na noite de São Marçal. Ocultou, porém, o motivo. No íntimo, desejava que o pai fosse mesmo Rodolfo e achara quase insultante que d. Amélia chegasse a tanto com tantos zelos pela paternidade do Major. Quem sabia se a causa do seu pegadio por Alfredo não era por força do sangue? Rodolfo não a merecia por quê?
E sentiu-se impotente para impedir a participação dela naquela hora decisiva. Viu-a ajeitando a coroa de folhas na cabeça da menina. O menino apareceu na cerca, seguiu a mãe que deu um cambaleio. Quis chamá-lo para evitar que visse a mãe naquele estado e para mostrar-lhe o enxoval. Num dos seus desesperos, Alfredo acabaria se atirando no rio. Não teria sido uma desesperada intenção a idéia de esperar a pororoca?
Voltou a olhar, com súbito ressentimento, para Edmundo a quem havia pedido com ingenuidade, dias atrás, para dar umas aulas a Alfredo. Talvez este, pegando amizade nele, fugisse do ambiente do chalé. Depois, já não havia a bem dizer escolas em Cachoeira. A professora pedira licença para tratamento de saúde. O professor, resmungando algarismos, amarelo, soturno, enfeitava o quadro com a sua caprichosa caligrafia.
Mas não esperava esta resposta de Edmundo:
[345] — Quer também que eu seja o pai de Alfredo?:
Foi uma espécie de surdo desabafo. Negava-se a dar uma simples lição ao menino tão esfomeado de saber. Para que então estudara lá na Inglaterra? De que valiam seus conhecimentos? Ouvira-o dizer, certa vez, sem entendê-lo: Aprendi para ser um proprietário.
Que queria dizer com isso?
Sabia lá se ele, por onde andou, só não se casara por ter sido repehdo pelas namoradas, que, mais finas do que ele, logo lhe descobriam o egoísmo, o Meneses. Não era apenas a ruína da fazenda que o transtornava, mas a do seu coração.
Tudo isso se dissipou ao ouvi-lo dar-lhe explicações sobre a conversa que tivera com o padeiro. Visava a compra ou o arrendamento de um pedaço de terra no baixo Arari. Pedira informações, o português as deu sem nunca mais acabar. Faria um roçado. Lucíola mal dominou a vontade de lhe indagar bem alto: mas com essas mãos?
Edmundo percebeu e disse entre galhofante e sério:
— Mas que é que está pensando? Não amansei um búfalo? Não tenho força para chicotear um lombo de cavalo?
Para Lucíola, a última pergunta assumia um acento estranho que associou ao furor de Edgar Meneses diante da esposa no tronco.
— Hein? Responda-me.
— Mas, homem de Deus, ouviu eu dizer alguma coisa? Não está me vendo calada?
— Mas deu a entender.
— Eu? Somente acho que é muito fino... muito educado pra estar pegando numa qualquer enxada...
Ele fez um gesto de sardônica impaciência num riso sufocado, soprando pelo nariz.
— Ora, Lucíola, pois justamente estou lutando para tirar este verniz, esta tintura.
Lucíola olhou para ele com a expressão dos míopes, como para apanhar de surpresa lá de dentro do noivo, a cobra-grande que arrebatou Diana. Era isso, o segredo do casamento. Casava-se para se tornar um bruto.
— Mas sabe, acrescentou ele, que só você impedirá o pior.
[346] Edmundo fechava os punhos, piscando singularmente. Também ela lhe poderia dizer, por exemplo e de maneira gratuita, que aceitava aquele casamento para fugir de Alfredo, provar as moças, às Gouveias... Nesse momento, talvez para iludir-se ou fugir à análise da nova situação, tomou a confissão como um ato de desespero ante a impossibilidade de qualquer medida para evitar a entrega da fazenda ao dr. Lustosa. Por que ele, embora agrônomo — nem lhe perguntara ainda se era bacharel também — não cavava o emprego vago de juiz substituto, em lugar do dr. Campos?
Mas não lhe disse nada. Passaram a conversar sobre a avó que andava dando ordens no bosque, chamando vaqueiros inexistentes, olhando uma fazenda que não existia mais. Gritava que viria cercar a casa de Lucíola e obrigá-la a desistir do casamento.
— Mas se o sr. me diz uma coisa dessas, por que continua a vir aqui? E a primeira vez que me diz isso. Não sabia.
Ela sabia, sim, mas desejou saber o efeito de suas palavras, achando que Edmundo lhe insinuara uma proposta de rompimento.
— Você sabe que minha avó tem suas loucuras. Compadeça-se dela de uma vez para sempre. Senhoras como ela quando tudo perdem...
— Tudo não. Ela não perdeu o sr. e o sr. pode ter tudo.
Ele riu. Tudo? Tudo... Riu novamente. Afundou a mão no bolso.
— Você, Lucíola, não sabe. Está me vendo moço, assim, mas aqui dentro está roda a herança que me deixaram. Os seus ossos. Sou um depósito de ossos. Um jazigo pintado de novo por fora.
Passeou pela sala numa repentina perturbação. Como se já não pudesse mais conter-se, caiu na cadeira, o ar fatigado. E com uma decisão nervosa, tirou do bolso, largo e fundo, um embrulho amarrado por um fio que Lucíola reconheceu ser de um daqueles espartilhos velhos do pavilhão.
— No que dá a minha pretensão de arqueólogo. Remexendo lá pelos retiros da fazenda, catando coisas de índio, encontrei isto. Desembrulhe.
— Isto? Eu? Então quer me mostrar caveira de índio? Mande [347] pro museu, mas não quero nem ver, O sr. mesmo...
— Continua me chamando de senhor. Senhor de que? Deste embrulho?
— E o que é?
— Desembrulhe.
— Diga.
— Quer mesmo que eu mande para o museu?
— O sr. é que sabe... Alguma maldade contra o sr.?
— Bem, Lucíola, você talvez vai me julgar um doido, seja o que for. Realmente não devia ter trazido. Mas quero que participe de tudo que agora me acontece. São as minhas escavações, sou o arqueólogo de minha família. Encontrei isto atrás de um fogão velho no retiro de Arrependidos, hoje desabitado. Pensei que fossem cacos de cerâmica marajoara. E aqui estão. Não vou desembrulhar. São ossos. Ossos de uma criança ali enterrada não há muito tempo. Alguém, uma pobre mulher que...
Lucíola recuou ao encontro da parede em que se apoiou sob o quadro de São Expedito como para proteger-se, a cabeça entre as mãos numa crise de soluços. Edmundo, colocando o embrulho na mesa e retirando-o no mesmo instante, disse-lhe numa voz abafada:
— Como, Lucíola? Que é isso? Que agonia é essa? Por que tudo isto, querida?
Por um momento, Lucíola parecia conter os soluços: querida. Pela primeira vez, “querida”. Chamando-a de querida, com os ossos da criança na mão. Os soluços aumentaram.
— Poderia dizer-lhe, Lucíola...
Ele a viu voltar-se para ele, a face devastada pelas lágrimas, pelo sofrimento e pelo medo. Contou-lhe o que sabia em rápidas palavras e como Edmundo não lhe parecesse acreditar ou mesmo quisesse dar razão ao tio, exclamou:
— Ainda quer inocentar o seu tio? Acha que estou inventando um aleive? Pergunte ao tio da menina, a d. Marciana, pergunte ao povo. Foi justamente em Arrependidos que o seu Edgar Meneses morava, quando aconteceu. Para lá levou o inocente.
[348] Mudou-se há uns anos.
Mas Edmundo não trazia nada naquele embrulho. Encontrara, é certo, os ossos da criança, deixando-os na fazenda. E era como se os tivesse traído.
No silêncio em que se tornavam desconhecidos um do outro, o teto parecia desabar sob o peso da jibóia que, entre os caibros, movendo o papo, os espiava. Algumas tábuas do soalho cediam aos pés de Edmundo. Este soprava os cascões da parede onde se penduravam fios de aranha. Os corpos suavam sombriamente de um calor não da tarde morna, mas daquelas duas criaturas, calor de angústia em Lucíola, calor do embrulho ali roçando o peito, do olhar de Andreza sobre os dois, se os surpreendesse.
— E o que é incrível é que passasse todo aquele tempo conversando ali defronte com isso. Não sei. Meu São Expedito...
— Exatamente, Lucíola, incrível. Mas não quero inocentá-lo e estou certo de que o defenderia no júri se alguém viesse denunciá-lo. Acho que passaram os anos da lei. O menino foi dado como desaparecido. O processo caducou. Fazer isto foi inútil, na verdade. Talvez por desespero, por delírio de um ódio... Meu tio pode ser mau, hoje doente, mas também perdeu tudo. Do proprietário, ficou apenas o assassino, o ladrão. E acha que eu não seria capaz de fazer o mesmo em iguais circunstâncias? Eu ou você?
— Pelo amor de sua mãe, de Deus, ouça-me: vá enterrar essa criança. Ah, não compreendo que suporte isso consigo. Ou o sr. está fazendo da fraqueza força. Sei que não enlouqueceu e penso um pouco na menina que anda por aí na rua, perdida... E veja, sinta que dói saber... Podia ser um filho meu...
— Que poderia ser Alfredo? A Alfredo a quem neguei dar lições. E verdade, é verdade... Mas de que valia ensinar o que ainda sei? O conhecimento que adquiri foi como água num copo sujo. Ninguém pode beba-la. Está contaminada. Alfredo aprenderá por si mesmo. Saberá aprender, com tremendas dificuldades, o que aprendi sem nenhuma e inutilmente. Ele não quererá um professor que carrega ossos de criança no bolso. E que destino teria essa criança?
— Dr. Edmundo, eu vou consigo. Vamos juntos. Eu monto [349] na garupa. Não importa que falem. Importa é sepultar esse anjo. Estes... Digam depois que matamos. Espere um pouco...
Tinha uma voz de súplica, retirando-se para o quarto onde foi mudar de roupa e agora ouvia a voz dele à porta encostado:
— Lucíola, não tenho peso algum na consciência. Não posso pagar por todos os crimes da família. Basta que pague pelo maior que foi o de perderem a fortuna. Este embrulho foi um passado que desenterrei por equívoco. Já nem mesmo pertence ao proprietário, mas ao arruinado e louco Edgar Meneses. Castigá-lo já nem vale a pena. Sabe o que acontece com ele lá no retiro onde mora?
Lucíola se vestia, sem se sentir, cega e sufocada. A voz de Edmundo entrava lenta, como se viesse daqueles pavilhões de Marinatambalo, do fogão de Arrependidos.
— Os moradores da vizinhança vivem assombrados porque meu tio assegura que conversa com o Diabo. Pois eu mesmo fui assistir, levado pela d. Marciana. Todas às sextas-feiras disse que encontra com o Diabo. Nesse dia não recebe ninguém. Fecha-se num quarto o dia inteiro cercado de velas, resmungando sem parar. Ontem, sexta-feira, ele saiu, à meia-noite, da barraca. Saiu, com uma vela acesa, umas bonecas de pano crivadas de espinhos e se dirigiu para o canto do curral velho. E começou a dar gritos roucos, a dizer nomes chamando o Diabo. Este, na imaginação do meu tio, aparece sempre montado num cavalo.
Lucíola assomou à porta, pronta, o olhar sobre ele. Edmundo segurou-lhe a mão, de súbito beijou-a e sentou pesadamente na cadeira que estalou.
— Todos, continuou, que moram por ali viram o espetáculo. Escondidos num mato próximo. Depois ele voltou contente. Contou aos caboclos as peripécias do encontro. Havia mais uma vez vencido o diabo. Eu não apareci a ele. E o povo que tem medo sofre as conseqüências, porque meu tio, a custa disso, vai furtando galinhas, porcos, patos... O Lustosa me escreveu de Belém que meu tio lhe furtou uma égua. Eu não quis lhe dizer. Mandou-me advertir que não mandava prendê-lo em atenção a mim, à minha família.
Nisto, entrou Dadá. Lucíola empalideceu e atraiu o noivo [350] para a janela. A irmã varara o corredor.
— Você não vai, Lucíola — disse ele baixo. — Confie que quando anoitecer irei enterrá-lo. Vou só. No cemitério mesmo. Mandarei fazer uma cruz sem inscrição. Esteja certa. Mas não acha que isso nos uniu mais?
Ia dizer: perdoe-me, e não sabia por que, achou isto demasiado e mesmo ridículo para ele. Algo de grotesco insinuava-se em tudo aquilo. Ao sair, receou encontrar-se com Andreza.
Montando no búfalo, aproximou-se da janela e despediu-se, gracejando para disfarçar o abatimento:
— Este búfalo se incumbirá de defender a nossa casa velha contra o assalto da avó. Ela virá de carruagem cornos fantasmas à frente. Mas jogaremos a carruagem no rio.
Acenou para ela e ao atravessar o campo, à luz do anoitecer, não deixava de parecer um cavaleiro fantástico em direção de sua morada nos atoleiros e nos campos de Marinatambalo.
Edmundo resolveu, à última hora, não falar ao tio, como prometera, e a cruz sem inscrição foi levantada. Alguns dias depois ao apear diante da janela de Lucíola, com a determinação de se casar dentro de uma semana, foi chamado à padaria onde o prefeito de polícia o esperava.
— Dr., mandei chamá-lo constrangido. Trata-se de seu tio. O sr. sabe, ele pode fazer aquelas coisas com os caboclos que o remem. Mas agora foi com o dr. Lustosa lá no São Vicente. Creio que o dr. Lustosa lhe havia avisado na outra vez. Agora... Desapareceram uns tachos, umas pranchas e umas rodas de arame do dr. Lustosa. O feitor nos disse que os tachos foram vistos no mato do Retirinho, vizinho do Santo Vicente. Somos obrigados a fazer uma vistoria, esta noite, dr. Mesmo o sr. sabe que o dr. Lustosa...
— Muito bem, tenente. Mas também sou obrigado a ir na diligência. Não, não, não há mal nenhum nisto. É um obséquio. A que horas sai a embarcação?
Encontraram-no, de madrugada, dentro de um covão no tabocal, enterrando os tachos de cobre. Sem serem vistos os [351] guardas cercaram-no. Quando os viu, Edgar Meneses saltou num arranco e prostrou-se ao pé dos homens, suplicando, surda e arquejantemente, que o não prendessem, vissem o nome da família. Pagaria os tachos, as pranchas, as rodas de arame. Edmundo, que até então se conservava oculto, avançou sobre o tio, gritou-lhe que se pusesse de pé, suspendeu-o pelos ombros, contendo o gesto de esbofeteá-lo. Face a face durante um longo minuto, tio e sobrinho permaneceram em silêncio, boiando da sombra à proporção que a luz do amanhecer descia, cinzenta e úmida.
Edmundo retirou-se para a embarcação sem lhe dirigir mais uma palavra durante a soturna viagem em que os remos batiam num tom cavo nas bordas do batelão.
Quando a diligencia regressou, Andreza soube no chalé do que se tratava e correu para ver o preso no xadrez.
Perguntou por ele aos caboclos que ali estavam. Estes não sabiam. Ninguém ainda havia entrado na cadeia naquela manhã. Desapontada, Andreza pulou para a prefeitura de polícia. Encontrou Edmundo de saída e o interpelou, imperiosa:
— Onde está ele?
— Que ele?
— Quero ele no xadrez. Mande botar esse seu tio lá.
Edmundo, à falta de qualquer resposta, tentou sorrir e segurou-lhe os pulsos. A menina escapou em direção da Intendência. Entrou na Secretaria, atracou-se às pernas do major Alberto a quem rogou, teimosa, que mandasse botar aquele homem no xadrez.
— Ele tem que dar conta de meu mano. Mande primeiro prender, senão ele me agarra, me leva...
Major Alberto, preso àquelas mãozinhas úmidas e crispadas, mandou Didico chamar o tenente. Pediu a este que transferisse o homem para o xadrez. O tenente hesitou, foi ao corpo da guarda e falou a Edgar Menezes que nada dizia, sucumbido, ignorando os motivos de tão inesperada transferência, depois de terem combinado que ficaria ali por uma semana na sala da prefeitura. Afinal era capitão da Guarda Nacional.
Enquanto esperava a volta do prefeito, major Alberto convenceu Andreza de que Edgar seria transferido e a menina [352] despediu-se tomando-lhe a bênção. O prefeito concordou com o Major que lhe havia proposto:
— Por algumas horas ao menos, para satisfazer a menina. Por mim, psiu, mandaria esse patife para a forca.
Para que não fosse posto entre os caboclos, conduziram-no ao xadrez das mulheres, que estava vazio. E assim que se assegurou de que todos haviam se retirado, Andreza surgiu, de repente, do trapiche. Foi se aproximando a medo, descalça, mãos fechadas, e olhou através das grades.
Então era aquele homem amarelo, barbudo, ofegando a um canto, que arrastara o pai pelo aterroado e dera sumiço no irmão?
Ele, por sua parte, a encarou, surpreso. Que é que queria aquela desconhecida menina? E que expressão tão linda, meu Deus, e de espanto, os olhos dela iam se enchendo de lágrimas, talvez tivesse pena dele, viesse talvez lhe perguntar se precisava de alguma coisa, e tapou o rosto com as mãos. Mas logo ao grito rouco da menina, esbugalhou os olhos para aquela careta de choro, aquelas mãos desesperadas nas grades e as palavras infantis em seus ouvidos como pedras:
— Onde deixou meu irmão? Que fim deu ao mano? Que foi que fez com meu pai, por que... Onde está meu mano, o mano...
Andreza batia as mãos nas grades, batia os pés no chão como se estivesse pisando a cabeça do assassino. Gaguejava e cuspia para dentro num desespero e numa cólera que a abateram, por fim, junto à porta do xadrez, onde por algum tempo choramingou numa queixa sem esperança. Nada podia fazer contra aquele homem. Amanhã sairia ele dali, procuraria invadir o pardieiro do tio e arrastá-la na corda como arrastou o pai, levá-la como levou o irmão.
Quando ergueu o rosto, Lucíola lhe estendia a mão frouxa, acenando-lhe com a cabeça. De punhos crescidos, Andreza gritou, com a boca a tremer:
— Mande primeiro ele me dá meu mano, ande.
Saltou das mãos de Lucíola para tropeçar e debater-se nos braços de Edmundo que a carregou ao peito, olhou fixamente para ela, para os seus fundos olhos araçás, sério e pálido:
— Vamos. Que é isto. Você vai morar conosco. [353] Procuraremos o seu mano.
Andreza sentia em seu rosto ardente um hálito de fumo, o pico da barba e num repelão mordeu-o no pescoço, escapulindo-lhe dos braços como uma cutia braba.
Via-se perseguida na rua, enfiou pela padaria e atirou-se atrás do forno sobre um monte de lenha onde, à tardinha, Alfredo foi buscá-la, silencioso, a mão no seu ombro. No meio da rua, quase sem poder manter-se em pé, d. Amélia chamava-os.
À noite, os dois meninos aguardavam a volta do preso que, em companhia de Edmundo, fora jantar na casa de Lucíola. Mas Sebastião os recolheu ao chalé.
Depois que os dois Meneses saíram, Lucíola durante horas esteve sentada à janela. O noivo resolveu passar a noite no corpo da guarda, com o tio.
[354]
13
13
O Major recebeu, a mandado de d. Amélia, a comunicação de Rodolfo: ela havia cedido o chalé para o casamento.
Para Alfredo aquela novidade foi um desafogo.
Prendia-se agora também à esperança de reconciliar os pais ou mante-los juntos, pelo menos aparentemente, com a sua simples presença. Julgou-se necessário ao chalé embora isso lhe desse a convicção de que não mais partiria.
Talvez para obter um descanso, voltar a falar espontaneamente com o Major, pensava o menino, sua mãe insistira tanto para que Lucíola viesse se vestir no chalé e oferecer ali uma mesa de doces aos convidados, Ou nova vingança contra as Gouveias?
Viu-a, ajudada por Sebastião e d. Marcelina, esfregar e ensaboar o soalho, lavando ruidosamente a casa. Ainda nessa lavagem da véspera, Alfredo sentiu-a um pouco tonta, excessiva na limpeza de tudo. E ficou quase certo de que sua mãe aproveitaria a ocasião para fazer uma das suas, para envergonhar Lucíola, humilhar o Major, zombar de Edmundo e seus parentes. D. Amélia lembrava: e aquela Meneses, da desfeita no Rodolfo? E agora? O que era tempo: aquele baile e este casamento.
Pôs-se a examinar na despensa este e aquele indício de garrafas clandestinas, se aparecera nos fundos, com embrulhos misteriosos, algum moleque, alguma mulher, se Inocência, chamada a auxiliar o serviço naquela tarde, havia ido ao Salu. Ignorava que Andreza pedira a este não vendesse mais um dedo de bebida aos moleques conhecidos de d. Amélia.
Quis ajudá-la a baldear a escada da frente para sentir-lhe o [355] hálito, surpreender-lhe algo de uma intenção extravagante, de um plano de escândalo. Fez tudo isso com um arrepio de mágoa, de culpa e de vergonha.
Edmundo aceitara tudo em silêncio, com um sorriso que dizia: o que fizeres, Lucíola, estará bem. Naqueles últimos dias, depois da cena de Edgar Meneses, a passividade dele era crescente. Andava tão desejoso de romper que nem sabia como sentar as idéias para desfazer o compromissos pensava Lucíola.
Lucíola enganava-se, no entanto. Edmundo fixara o casamento em seu espírito como uma resolução morna e triste da qual não se libertaria. Também o fato de ter despertado conversas e ate mesmo lendas a seu respeito chegava a excitá-lo. Saberia vingar-se de si mesmo, de sua família e de todos que queriam humilhar e caluniar Lucíola. Pelo menos, estaria de posse de uma responsabilidade, de um objetivo, de uma mulher.
Rodolfo se encarregou de mandar buscar as cadeiras, as mesmas, em número menor, que serviram ao teatrinho na casa de Lili, observou Alfredo. A mesa era a do chalé, sem nenhum polimentos cortada de faca, riscada, queimada do ferro de engomar, lisa das mãos e do sono do gato, habituada a servir muitas vezes nua ou com a toalha de algodão. A mãe forrou-a com uma toalha desconhecida, branca, bordada, que desintegrou a mesa do chalé transformando-a em móvel alheio. Alfredo tinha os olhos nos desenhos, ramagens, rosas, um vago aroma de casa rica. Era toalha nova? Não, concluiu. Parecia acostumada a belos jantares, a noites de aniversário e casamento, e tal era o abandono e a familiaridade a que se entregara a toalha ao cobrir a mesa que esta por certo, deveria estar, sob aquele luxo, abafada e fora de si mesma.
Depois sua mãe, silenciosamente, passou a colocar a louça também de rara qualidade e de procedência ignorada. Estranhas xícaras, compoteiras como pavilhões, centros de mesa, armações singulares para os doces e estes chegavam nas bandejas e nas formas com uma variedade, um colorido e um perfume que estontearam Alfredo.
Mas por uns minutos tudo aquilo o entristeceu. Em torno da mesa, como uma borboleta, deveria estar Mariinha. Logo achou [356] fora de propósito que sua mãe, depois da morte da filha, na mesma mesa onde pousou o cadáver entre tantas flores — hoje desfeitas sobre uns ossinhos de anjo — deixasse nascer aquela floração de pães-de-ló e pudins. Debaixo daquela toalha restariam ainda, entre as humildes tábuas, resíduos de comida, principalmente farinha, deixados por Maria de Nazaré. Restava a marca do corpo da irmã, o enigma de sua morte súbita, a pressão de sua recusa de morrer, impregnando a madeira. Sua mãe, nesses minutos, não parecia preparar uma mesa de casamento, mas o esquife de alguém, o dele, se subitamente lhe viesse aquela febre. Ou a sepultura mesmo de Maninha transportada pelo pensamento da mãe para a mesa?
Entre aquelas flores e os pudins, iriam carocinhos, o beijo de Andreza, o intangível colégio.
A mãe esticava a toalha, dobrava-lhe as pontas com alfinetes, dispunha os pratos com o mesmo silêncio e o mesmo vagar de quem inventasse um jogo difícil. Como sabia dominar todos aqueles objetos que não eram seus e tão satisfeitos de sua submissão. Suas mãos davam uma ordem e uma vida à mesa nupcial, como se estivesse, agora, preparando-a para o casamento que desejava ter.
Queria ver a mãe, de véu e grinalda, distribuindo botões de laranjeira. Deveria ela queixar-se de não ter casado, não ter uma fotografia de casamento? Gostaria que ela pelo menos pudesse preparar a mesa de casamento da Mariinha.
Voltou-se para a janela. Dadá trazia embrulhos, o rosto coberto de tapioca.
Deu uns passos, o gato roçou-lhe as pernas. Aproximou-se da mãe para dizer-lhe:
— Por que está tão calada? Está se lembrando de Mariinha?
Mas não disse nada. Não quis perturbá-la. Estava ali, lúcida, negra criada servindo uma branca, mas negra que não perdesse nunca a consciência do quanto valiam as suas mãos sem ensinar a ninguém a arte de arrumar e enfeitar que é um dom quase mágico.
Andreza veio espiar os preparativos que eram marcados por um ritmo de silêncio e de indefinida expectativa sensível aos meninos.
Rodolfo, de calça de casimira, resistente lembrança do [357] extinto montepio, não tinha desta vez as mãos sujas de tipógrafo. Só uma vez confiou a d. Amélia:
— Por meu gosto, Lucíola não se casava com esse rapaz. Mas minha irmã não é livre?
Rodolfo dizia: os Meneses, a seu ver, mereciam cadeia. O último deles arrancava-lhe a irmã para aquele casamento tão fora de propósito. Tinha pena de Lucíola. Devia mesmo saber o que queria? Coitada, depois de tantos anos de solteirona, ia amparar-se àquela ruína que lhe aparecia sob a forma de um belo homem. Reparara nos olhos da irmã, já não lhe pareciam tão murchos. Que fôlego tem a esperança, refletia. Mas não atinava na resolução do rapaz, por que a escolhera, por quê? Via-o no búfalo, muito branco como um peixe arapapá, soberbo e triste, caminhando pelos campos. Toda aquela educação da Inglaterra, aquele porte, tudo aquilo, para Lucíola? Para a tapera de Marinatambalo?
Afinal, dissera, certo momento, numa explosão sombria, eram irmãos pelo mesmo ventre, mas de pais diversos e quase todos desconhecidos. Durante 30 anos desde menino procurara saber, com uma curiosidade vã e monótona. Conhecer o pai, sem nunca perguntar à mãe, para melhor odiá-lo ou rir ao examiná-lo da cabeça aos pés, dizendo consigo: aqui estou eu, velho patife, esta obra de acaso, de uma noitada de que já nem mesmo terá lembrança. Vingo-me botando filhos nas outras que talvez nunca adivinharão quem sou. Hoje, mudava de pensamento, mudava.
Quantas vezes, no largo da igreja, em noites de festa, vendo fazendeiros com suas famílias, advogados, comerciantes, barqueiros, indagava a si mesmo: Qual deles? Lucíola sabia do seu. Lembrava-se bem, uma noite de festa de Nazaré, na hora do leilão, disse-lhe ao ouvido: Estás vendo aquele ali? E teu pai. Era um fazendeiro de Anajás que nem ao menos olhou para ela, de braço dado com as duas filhas, fazendo lances no leilão. Dadá adivinhara quem era o seu pai e Rodolfo a viu tomando-lhe a bênção. Quando morreu, ela discretamente vestiu luto. Didico descobrira o seu e fingia ignorá-lo. E o meu? resmungava o tipógrafo.
Para Didico, o ponteiro, o casamento daria rumo à família. Os Saraivas, que traziam o nome de um homem pai de nenhum [358] deles, doador de um montepio à velha Rosália, seriam um tronco amanhã novo e de ventres legais. E para cúmulo do destino, surgira um Meneses para enxertar a arvore espúria. Era a liga de argamassa que faltava para sustentar a desconjuntada parede dos Saraivas na sociedade.
Penteando o cabelo de mulato partido ao meio, Rodolfo acompanhava o trabalho de d. Amélia. Faltava arrumar as cadeiras e buscar os panos bordados, cedidos por d. Glorinha. O tipógrafo passara brilhantina na cabeça, estava se vendo. Os bigodes bem torcidos, O queixo barbeado não deveria picar o rosto das crianças quando, com a barba de um dia, gostava de malinar. E os suspensórios. E o lenço cheirando que ele tirou do bolso para enxugar o cangote. Andreza e Alfredo olhavam-no com insolente malícia.
E Lucíola, onde estava? Era a pergunta silenciosa dos dois que viam Dadá, de chinelas, trazendo o enxoval para o quarto. Por onde vagava naquele sábado a noiva invisível?
Dadá trouxera as garrafas de vinho do Porto. E um licor de tangerina. Os convidados não seriam muitos. Andreza pensou furtar uma daquelas garrafas de gargalo comprido como pescoço de garça. Seria doce beber, queimando docemente a barriga, sentindo o vinho deslizar pelo coração, quente e doce. Alfredo admirava os vinhos que lhe falavam de viagens. Finos cálices trazia Dadá com tamanho cuidado. As garrafas pareciam conter perfume e não vinho. Se as destampassem, ficariam de súbito vazias. Andreza passava então a ter vontade de quebrar tudo aquilo, de cuspir nos doces, em nome de seu avó, do pai assassinado, do irmão desaparecido.
D. Amélia não ignorava que havia um movimento de pessoas subindo e descendo a rua de baixo, as cabeças espichadas para o chalé. Lucíola não aparecia. Edmundo ainda na fazenda. Andreza acreditou que Lucíola estava rezando para aparecer menos feia no braço do sobrinho do matador de seu pai. Vendo a mesa pronta, a menina teve uma repentina crise de choro, a cabeça na parede, as lágrimas no soalho, sentindo no cabelo a mão de d. Amélia que cheirava a toalha, a papel de seda e a pudim. Alfredo coçava o pescoço, perplexo. A luz caindo por uma fresta do teto alcançou [359] uma das garrafas de vinho como se quisesse bebê-lo. Andreza, de costas para a mesa, para o grande vinho iluminado, tornara-se escura, suja, coitadinha... Mas Alfredo deu com Lucíola à porta do corredor, papelinhos nos cabelos, chinelas, o vestido da véspera, como se tivesse sido noiva há 20 anos.
Viera chocada com a indagação tardia de Dadá: se tinha sido conveniente aceitar o chalé, se seria social vestir e receber os convidados onde a dona não era casada e, para cima do mais, uma preta que não podia dar nem ao menos uma aparência de senhora do Major. Dadá não dissera isso apenas por preconceito, também por precaução, prevenida contra Cachoeira, sobretudo por se tratar de Edmundo. Se o casamento saísse da casa do dr. Adalberto, o efeito seria outro, seria mais condigno. Mas não foi falta de lembrança... acrescentou Dadá. Como Lucíola nada respondia, a conversa cessou.
Lucíola considerava-se mais em segurança no chalé do que em qualquer casa. A sua vontade era ter ficado ali na casa velha. Mas os irmãos verificaram o estado do soalho e a desiludiram. Enfim preferiu vestir-se no quarto de d. Amélia. Assim evitaria que as cunhadas do dr. Adalberto e outras moças com ares de cidade viessem vesti-la, invadir a intimidade daqueles preparativos.
Agora via Andreza enxugando os olhos diante da mesa branca, cheia e florida, como diante de um túmulo. Ali estava para meter pena e ganhar carinhos de Alfredo, invocando as mortes da família causadas pelos Meneses. Andreza envenenava tudo aquilo. Seu pranto umedecia os doces, salgava o vinho, ensopava o enxoval.
D. Amélia mandou os meninos descerem para o campo. Mas Lucíola voltou à casa velha. Os dois ficaram então rondando o chalé que lhes parecia proibido.
Meia-hora depois, vencendo a vigilância de d. Amélia, Alfredo e Andreza penetraram no quarto e deram com um grande espelho desconhecido. Pucarinas. Caixas de pó de arroz. Vidros de perfume “Coração de Joaninha”, “Três Lágrimas”... Descobriram na velha cama de ferro agora armada — que curava as cãibras de [360] d. Amélia — a caixa de grinalda, do véu e do embrulho em papel azul do vestido da noiva. A menina despregou os alfinetes e levantou o vestido, longo, imenso. Quanto pano, que macio, como estava bem passado! Adiante as roupas virgens de baixo. A caixa de sapatos. As meias. As luvas que ela calçou, mergulhando as sujas e pequenas mãos curiosas. Andreza excitava-se. E as alianças? Onde? Não vira nenhum anel nos dedos de Lucíola. A grinalda cheirava a caixão de defunto.
Vendo-a através do grande espelho, Alfredo achou-a estranha, como se tivesse crescido, já em pleno noivado. Ralhou com ela. Retirou-se deixando-a a olhar o vestido espalhado na cama.
Alisava a musselina, que lhe fugia, branca e fluída, entre os dedos. Suspendeu o comprido véu, cobrindo-se com ele e foi olhar ao espelho. Ficara sumida, tão insignificante naquele véu, sem nenhum ar de moça.
Cautelosamente depôs o véu sobre a cama. E voltou a admirar o vestido. Era uma nuvem estendida sobre o leito. Todo aquele enxoval parecia abandonado. Quis atirar-se na cama, embrulhar-se naquilo tudo... E se amarrotasse o vestido e o lançasse pela janela para depois enterrá-lo? Um desejo de malvadeza espicaçava-a e foi Alfredo que a tirou do quarto.
A varanda ganhara, afinal, embora sem alegria, uma cor nupcial. Major acordara da sestinha na saleta. Os bancos retirados para o corredor. Desfigurava-se a varanda. A tipografia oculta sob grossas folhas de papel. O chalé estava alugado mesmo, fora de si.
Quando Lucíola entrou novamente, a hora se aproximava. Duas moças haviam chegado. A costureira conversava alegremente na cozinha.
Pesada de apreensões, ainda sob o choque de ver Andreza chorando, Lucíola preparava-se para entregar-se a tirania de d. Doduca, ao trabalho do penteado, àquela miúda e longa intimidade da improvisada toilete em que tudo seria tocado e revisto pelas mulheres. Sentia em volta de si a vila inteira espreitando-a, desnudando-a, vestindo, penteando, despenteando-a, examinando-lhe a grinalda, a anágua, as fivelas dos sapatos. Relanceou o olhar à procura de Alfredo. Queria falar-lhe, dizer-lhe talvez adeus, despedir-se [361] como solteira, ao lado dele, da casa velha.
D. Amélia anunciava ao Major que o fato estava pronto. Ela ficaria no chalé, seu lugar era ali. Presumia-se quase a autora daquela cerimônia inteira, em que suas mãos tocavam em tudo. Major aproveitou para falar da esquisitice de Edmundo que mandara dizer que se vestiria no corpo da guarda, onde o tio continuava detido.
Quando d. Doduca, ao passar para o quarto, lhe disse com alegre naturalidade: vamos, mea filha, Lucíola estremeceu. D. Amélia levou-a pelo braço para uma cadeira diante do grande espelho. Já a costureira esperava com rolos e pentes na mão. Entrou Dadá que logo saiu e duas senhoras, parentas distantes da noiva, entraram sem serem convidadas, taciturnas e atentas.
D. Doduca soltou-lhe os cabelos, retirando os papelotes, penteou-os, conversando sobre a papeira do sobrinho.
— Agora é do que se fala, meu Deus. Papeira em todo o mundo. Até o Carivaldo, tamanha caverna, de queixo tufadão.
Lucíola recostou-se na cadeira, abandonada e aérea. Algumas visões revoaram em seu cérebro, pensamentos de Alfredo, o arquejar dos animais na manhã da caça, a noite passada em companhia da irmã. Sobretudo temor, preocupação de que o quarto não se enchesse de gente. As mãos da costureira, auxiliada por d. Amélia e pelas duas mulheres, trabalhavam, desfiando e enrolando aqueles cabelos dóceis e maduros.
D. Doduca não sabia que penteado fazer. Por uma espécie de escrúpulo e receio não consultara Lucíola e esta se mantinha neutra, sem vontade. D. Amélia aguardava a decisão da costureira que dobrava os cabelos, agora silenciosa e vacilante, enquanto as parentas espiavam, cheias de grampos e desse desvelo tão familiar que ninguém dá conta. De repente, duas cabeças de moças apontaram na porta entreaberta e Lucíola viu-lhes as pestanas vivas, os queixos bisbilhoteiros, depois os pés avançaram... Resmungou que fechassem a porta. A costureira gritou festivamente:
— Aqui não se entra. Vão namorar primeiro e me chamem depois, seus diabos!
[362] — Mas nós queríamos ajudar. Quem ajuda a preparar noiva casa cedo.
D. Amélia encostou a porta. As moças excitavam-se pela parede, sob o calor. Lucíola queria que só ficassem no quarto as pessoas de maior precisão. Não queria moças ali. D. Amélia quebrou o silêncio com uma observação que repuxou os nervos de Lucíola:
— Me parece, d. Doduca, que este não vai dar certo. Vai mesmo?
A costureira parou, ergueu as mãos espalmadas. As maçãs do rosto suavam e pontas do cabelo calam-lhe pelas orelhas. A obra estava a meio. As duas parentas entreolharam-se. D. Amélia examinou os contornos do penteado, dizendo intimamente: eu faria melhor. Sacudiu de leve a cabeça num aceno desaprovador. Não era penteado para Lucíola. Não lhe ficava bem. Aquela pastinha talvez pudesse passar se fosse espichada sobre a testa. A costureira meneou a cabeça, também recuou, refletindo como um engenheiro diante de uma planta e deu razão a d. Amélia.
— Justamente, d. Amélia. Este não se ajusta com o véu. Não se dá bem com ela.
E toda aquela construção desabou silenciosamente produzindo novo e profundo choque em Lucíola sempre calada, os olhos baixos, a dor de cabeça, as mãos frias; a notícia de que o noivo se vestia no corpo da guarda. Nem uma vez a voz de Alfredo. Até quando esse suplício? Diante dela, presente como ninguém, aquele espelho avassalador. E Andreza fazia sentir a sua presença ao pé da porta porque d. Amélia ralhou em voz baixa:
— Menina, não entra. Pra fora. Menina aqui não é chamada.
Lucíola pedia que o tempo voasse.
A curiosidade de Andreza aumentava-lhe a tensão. Por cima de sua cabeça, as duas mulheres por certo trocavam olhares de desapontamento e desanimo, crentes de que não havia penteado algum, nada que mudasse aquela figura. Ela sentia, ela sabia. Ora, ora, se não estavam escarnecendo.
Quis levantar-se para dizer que ela mesma se preparava, seu cabelo estranhava mãos alheias. Também não confessaria que era feia, que... Mas d. Doduca voltou ao trabalho com maior [363] determinação e falou das mucuras que andavam desfalcando o seu galinheiro.
— A senhora, d. Amélia, não gosta de mucura? Não? Nem sabe o que perde. Bem preparado é uma galinha. Deixe estar que um dia eu lhe preparo uma, a senhora come e só depois vai saber que foi mucura.
Acompanhando pelo espelho o andamento de sua obra, d. Doduca trabalhava um pouco negligentemente para melhor exibir o domínio de sua habilidade. Lucíola tentava ouvir também as conversas lá fora, com a expectativa de que as moças invadissem o quarto e fossem assistir àquela operação sem esperança e ridícula que era a de transformá-la em um manequim de véu e grinalda, fantasiado de noiva. Aquelas mulheres se preocupavam em escondê-la dos outros por uma serie de artifícios que a tornavam mais exposta e mais nua em sua confusão e em seu desgosto. Por que confiara naquelas mulheres? Edmundo estaria esperando-a no corpo da guarda? Se naquela hora apanhasse uma lancha, uma embarcação qualquer, partisse? Nesse instante, com efeito, uma lancha apitava de passagem pela vila. Dadá por que não aparecia? Ah, compreendendo que era vão dar-lhe a aparência de uma noiva, fugira para não ver o espetáculo, abandonava-a. E se tudo sofria, naquele momento, apreensiva, escarnecida, desamparada, por que aceitara o casamento? Pediu um lenço para enxugar o suor do pescoço. Aquelas mãos tirânicas em seu cabelo escavavam-lhe a consciência.
— Pronto, agora sim. Te olha no espelho, mea filha.
Ergueu a cabeça como surpreendida e deu com o penteado.
— Está bem?
Sem responder, ela pediu o vestido que desceu sobre o corpo como sobre uma coisa ausente. Estava de pé diante do espelho que a repelia. Atrás, d. Doduca corrigindo este e aquele detalhe e d. Amélia lhe ajeitava as mangas.
— Mea filha, tu ainda está descalça. D. Teresa, traga os sapatos dali, sim. E ande um pouco pra gente ver, sua moça.
Lá fora, o cochicho das moças como se espiassem pelas fechaduras. Distinguia os pulos de Andreza. Uma banda da janela do [364] quarto abriu-se para deixar vir de longe um azul caindo pelos campos. A lancha passara apitando. E aí d. Amélia interveio, numa voz tranqüila:
— Mas d. Doduca. Espere um pouco. Repare que esse penteado...
E ficou visto que, com o véu e a grinalda, o penteado não correspondia. Desmanchara-se outra vez o cabelo. Retiraram-se os grampos e os rolos. A costureira entrou novamente a apanhar e a voltear aquela massa como um mestre pedreiro. Estava disposta a erguer a fachada difícil, a vencer aquela resistência da natureza, a quebrar a manifesta vontade da noiva em não ajudar, metida naquele mutismo e naquela ausência.
— Olha, Lucíola, mea filha... eu sei o que é esta hora, mas converse, te distrai...
Doduca e Amélia não se casaram, refletiu Lucíola. Ambas se vingavam. Ambas lastimavam que esse casamento não fosse o delas, há anos atrás. Uma onda de vergonha cobriu a moça decidida a dizer “basta”, entendendo que tudo aquilo era feito de propósito para torturá-la, para rirem dela.
Quando terminou o penteado, que se ajustou o quanto foi possível ao véu, à grinalda e ao vestido, segundo a opinião das mulheres, a noiva foi declarada pronta. Lucíola trazia na alma todo o mudo diálogo que se travou entre aquelas mulheres durante a dolorosa toilete. D. Amélia empoou-lhe o rosto e como não havia batom nem carmim pintou-lhe os lábios com papel encarnado umedecido e coloriu-lhe também as faces. Mandaram-na que se mirasse novamente no espelho.
— Usa da franqueza, Lucíola, e diz se está a teu gosto. Se não, tem tempo ainda.
Acenou que estava bem, olhando para os sapatos. D. Amélia empoou-lhe o colo, o pescoço e calçou-lhe as luvas.
— Na hora de assinar, tire a luva, está ouvindo?
Distraidamente deu consigo mirando-se no velho espelho do chalé que lhe deu visão de uma noiva, sim, mas de uma fotografia desbotada, de há quantos anos... E lembrou-se que bem poderia ter dito a Alfredo: aqui está o enxoval de sua noiva e não meu.
[365] Era como se retirasse do fundo do armário o vestido de um casamento desfeito e exibisse para dar-se à ilusão de que iria casar de verdade. As mãos suavam dentro das luvas. D. Amélia espichando a cabeça para a varanda falou que fossem buscar os brincos esquecidos. A noiva nos sapatos de salto alto andava mal e o cheiro do véu, da grinalda, das luvas e do vestido envolvia-a como se estivesse encerrada numa caixa de armarinho. D. Amélia, enquanto esperava os brincos, deu-lhe o perfume, o leque e escancarou as janelas do quarto.
Quando a noiva apareceu na varanda, logo se fez anunciar a partida para a Intendência. Major Alberto, tímido, com um risonho constrangimento, tomou-lhe o braço enluvado; a noiva sentia as pernas mortas.
Na rua havia menos gente do que pensava. Isto a desapontou de uma certa maneira, pois estava preparada ou resignada a enfrentar o maior número de pessoas. Na ausência delas, via apenas conspiração, os olhos espiando atrás das portas e pelas frestas.
As moças atrás e a seu lado caminhavam discretas e lhe pareciam ostensivamente lindas. As meninas do Salu amparavam-lhe o véu. Mas, adiante, descalços e empoeirados, Alfredo e Andreza saltavam como se cavalgassem a pororoca. A tarde de gordas nuvens explodia em arco-íris, vento e sol. Debruçados no denso arco-íris, os meninos, as moças, as árvores, os gaviões e os bois bebiam a água das nuvens.
Ao chegar defronte da casa velha, Lucíola entregou o buquê a Dadá:
— Esperem um pouco. Tenho de rezar... E uma promessa...
O cortejo estacou. Olhando da janela, d. Amélia disse:
— Mas meu Deus, que ainda foi fazer lá? Já se viu...
E teve a rápida impressão de que aquilo era enterro e que esperavam o caixão sair da casa dos Saraivas.
Com o véu preso ao braço, Lucíola entrou na casa velha, ajoelhando-se diante do quadro de São Expedito. Enxugou com as luvas os olhos que ardiam. Lembrou-se que sua mãe... Sim, [366] grande dia aquele para sua mãe! Pobre mãe. E seu pai? Que diria agora? Nunca a abençoou, nunca lhe falou, que pensaria ele? Aonde andaria? Depois do casamento, sem dúvida reconhecê-la-ia como filha. O vento, invadindo a casa deserta, assoviava.
Foi rapidamente ao quarto — por onde dormia a jibóia? A jibóia que viera dar sorte à casa, ou a que se acha dentro de Edmundo? Apanhou a caixa dos cueiros e dos brinquedos de Alfredo. Era do tempo em que engatinhava, ou pedia colo e queria passear: Mamãe, ciá! Mamãe, ciá! E ali estava recolhida a infância dele, o menino, lá na rua, nada mais era senão homem.
Por isso, pelas últimas semanas agitadas, sua paixão pelo menino se extinguia. Daí em diante, ter filhos não significava ser a mãe que fora para Alfredo, virgem mãe de um deus, como Nossa Senhora, como dizia, adeus o filho esperado na sua juventude, a promessa de vida sufocada em si mesma, a insondável esperança que o olhar do menino refletia. E tinha acontecido o que sempre temeu: a paixão, com todo o gosto do sacrifício e da sua incontinência materna, transferira-se, com efeito, arrastando-a para um homem, desta vez um homem! Em vez de Alfredo, teria de acompanhar Edmundo, a quem o casamento era uma das suas maneiras de anular-se inteiramente, aceitar a ruína e ficar solitário com os crimes de Edgar Meneses. Perdera Alfredo, porque este avançava impetuosamente para o mundo com a sua ambição, o seu desprezo e a sua revolta por tudo que era aquele chalé, a casa velha e a casa grande de Marinatambalo. Mas haveria de perder Edmundo porque este, descendo o caminho oposto, deixaria em pouco de ser o homem que agora amava. E com esse temor seguia, muda e vagarosa, no cortejo que, na sua impressão, causava riso e pena a todo inundo. Por certo, estariam dizendo: lá vai a pobre. Agarra-te com esse com unhas e dentes, e olha que já deste o tiro na macaca.
Aquele velho sentimento de lástima de si mesma subia-lhe do coração, misturado ao seu crescente temor.
Sentia-se, por isso mesmo, rebaixada. Descera de uma obsessão materna (sim, mas Alfredo merecia), para entregar-se impura e amarga, com a paixão de solteirona, a um estranho, de uma [367] família de assassinos. Seu ardor não era mais que o dos desejos há tanto tempo em decomposição e dos sonhos insepultos, como um fogo fátuo.
Caminhando, errante e só — como ia silencioso o cortejo! — Lucíola compreendia que não caminhava agora para um lar, para uma família. Por que faltou a decisão de arrancar o véu ao descer da casa velha e dizer: não vou mais? Por que se acovardou de voltar à sua solidão, sem Alfredo nem Edmundo, tão ex-noiva como tantas, mas liberta daqueles olhares e daquela pantomima? A consciência de sua fraqueza dominava-a. Não soubera conquistar Alfredo, como não soubera fazer Edmundo confessar a verdade à menina, condenar o tio e assim recomeçar a vida. Tornara-se cúmplice dos Meneses e o ódio de Andreza selara aquele casamento. Os ossos da criança eram o seu dote de noiva.
A satisfação de Didico ao abrir a Intendência, naquela tarde, so era comparável à do seu distante primeiro dia de porteiro municipal.
O mormaço subia da poeira, das pedras, da maré seca, dos cachorros pirentos, dos porcos na rua, da suada sonolência geral, quando o porteiro escancarou a porta e as janelas. Havia lavado as vidraças. Espanou, pela segunda vez naquele sábado, os sofás, a mesa, o recinto gradeado onde se reunia o Conselho Municipal e o Tribunal do Júri. Renovou a tinta, mudou as penas, pôs a toalha das cerimônias cívicas, um vaso de flores e trouxe ainda uma folha nova de mata-borrão.
Ficou mirando a inútil instalação da extinta luz elétrica e o relógio de parede.
Com as chaves na mão, à porta, já de paletó e um lenço de pontas viradas e perfumadas no bolso, viu e esperou o cortejo da noiva, como se assumisse a autoridade mesma do intendente que os velhos retratos lhe transmitiam. Do caminho oposto, vindos pelo aterro, o Juiz de Direito, o escrivão, o resto dos convidados. Pelo campo, mulheres com panos na cabeça aproximavam-se, receosas.
[368] Pouco depois que entrou a noiva, o Juiz chegava, vagaroso, cabisbaixo, escolhendo caminho, enxugando-se com o lenço, soprando o cansaço e o calor. Trazia roupa creme, o grosso bigode meio ruivo, a fala nordestina e logo se dirigiu para a mesa, vestindo a toga com a ajuda do escrivão.
— Então, Major, como vamos com a nossa interminável Prática das Falências? perguntou ele, compassadamente, em tom pilhérico, pondo o lenço tímido ao pé do vaso de flores.
Major Alberto, sorrindo, afirmou que a obra caminhava. O Juiz riu vagarosamente como se sentenciasse.
Lucíola continuava de pé entre as moças, entregue, enfim, à voracidade delas. Aos poucos, defronte da rua se acumulou uma assistência que cochichava e ria surdamente. Mas todos se voltaram num surpreendido sussurro, dando passagem a Edmundo que saíra do corpo da guarda e entrou, sozinho, de preto, afável e pálido, mordendo os lábios. À porta do corredor, sentado num tamborete, de blusa, classicamente preso de justiça, Edgar Meneses espiava. Ao dar com ele, Lucíola baixou a cabeça, com um começo de náusea, os dedos enluvados tremiam, as lágrimas de Andreza escorriam-lhe pelo coração.
O noivo, entre alguns rapazes, queixou-se de paludismo. Minutos depois, as mãos esfriaram e quando o escrivão o convidou a sentar ao lado da noiva, estava já com febre. Concentrou-se para não pensar em nada, resistir àquela febre lenta e baixa que o consumia e lhe dava a sensação de mergulhar num morno atoleiro. Edgar Meneses espiava da porta, esverdeado, a barbicha, o olhar viscoso. A um latido à porta — Didico enxotara um cão — Lucíola voltou-se para as janelas da rua sobre as quais penduravam-se cabeças, apenas olhos, bocas entreabertas. Via Andreza, suspensa, a metade do corpo para dentro do salão, os olhos fixos nela, enormes. E sentado no batente, surgia Alfredo, descalço, os joelhos pretos, maltrapilho, a olhar tudo aquilo com uma calculada e alegre indiferença.
Vendo os padrinhos se aproximarem para o ato, Lucíola encolheu-se sob o véu, só e cheia de impressões, o olhar de Edgar Meneses, os ossos da criança, os tachos roubados, Adélia [369] enroscada no tronco como se fosse no amante. Andreza debruçada na janela. O relógio movendo o pêndulo, com uma solenidade de carrasco, cortava o tempo em fatias que se pulverizavam pelo salão, sobre os retratos, sobre aquela gente amanhã para sempre desaparecida. Nem uma só vez fitara o noivo que lhe apertou a mão enluvada. Pareceu-lhe aquilo tudo um inquérito policial, um júri em que ela e Edmundo fossem os réus. Viu a velha avó chicoteando as bestas da carruagem a caminho da Intendência para desfazer a cerimônia, a brutalidade de Edmundo lá dentro do homem como a cobra no quarto de Diana, via Alfredo fugindo novamente, desta vez para perder-se no mondongo. A murmuração da rua gelava-lhe os pés. O Juiz a seu lado, com a toga, poderia desembrulhar de repente os ossos do anjo? O escrivão, o livro grosso já aberto, as flores faziam-na ver cair do relógio, como uma lâmina sobre a nuca, o minuto do compromisso. Tudo aquilo acontecia e que fiz eu? era seu pensamento. Junto, arqueado e em febre, o noivo, de preto. E escutou o Juiz, de voz pausada, perguntar como se inquirisse sobre o crime, se o noivo era de espontânea vontade... Edmundo Logo apressou-se a responder, como se confessasse:
— Sim.
Lucíola sentiu-se manietada, os pés pareciam sangrar, o coração pesava-lhe, ao ouvir novamente a pergunta, agora para ela. Tinha a duração da Leitura de autos num júri e quando o Juiz acabou, a noiva respondeu, seca e breve:
— Não.
Ouviu, confusamente, a exclamação de Dadá no murmúrio geral. Com um aceno que impôs silêncio e fez retirar da sala Edgar Meneses, o Juiz voltado para ela, proferiu, de novo, a pergunta, pesando as palavras com um firme vagar numa inquirição decisiva. Lucíola, tensa, sob os apelos da irmã, a advertência do Juiz, o risinho de uma menina na janela, deixou escapar três vezes “não” como se falasse por todas as que se arrependiam tarde do casamento. O movimento da rua cresceu, invadindo o salão. Iria desmaiar? Dadá detinha os passos do Juiz, tentando convencê-lo de que havia sido engano e confusão, a irmã se achava nervosa...
[370] Edmundo, sentado ainda, como ausente, cruzou as mãos sobre a nuca. Então Lucíola, amparada por d. Doduca, abriu ala entre a pequena multidão que se comprimia em silêncio e saiu.
D. Amélia, no chalé, junto à mesa de doces, viu foi o cortejo voltando e parar defronte da padaria, as moças dispersarem, o véu arrastar-se pelo chão e a noiva entrar, seguida de Rodolfo, na casa velha.
Tudo para Lucíola se passava num relâmpago pelo qual fosse arremessada àquele caminho no campo, com o seu vestido da véspera, sem rumo nem consciência de si mesma. Do tumulto da casa velha, trouxera algumas palavras “vergonha”, “honra”, “confirmou-se o que dizia a vila” e com nitidez a exclamação, caluniosa, de Didico. Sentiu, apenas, a mão de Rodolfo alisando-lhe o ombro.
Por isso, com todo o seu atordoamento, pôde ainda caminhar até o igarapé da Chácara para esperar, antes de tudo, o Edmundo que deveria regressar por ali naquela tarde, como era seu hábito. E esperava-o para explicar-lhe ou abandonar-se a ele e provar assim que o irmão mentia, a vila mentia, Didico a difamava.
Queriam motivos para explicar o que sucedeu, como se tudo pudesse ter imediata explicação, como se tudo estivesse claro em seu espírito, em sua vida.
Os acontecimentos tinham-lhe sido ora um breve minuto, ora uma eternidade. O vagar e a velocidade do tempo agiam sobre os seus sentidos como duas forças que se entrechocavam. Sem olhar, no céu avermelhado, as nuvens em brasa do crepúsculo, via a noite caindo e logo, olhando os campos que se aveludavam sob a sombra, acreditava que a tarde não findava. E sobre a tarde descia, negro, com asas de arminho, o Juiz de Direito despejando a pergunta.
Encostou-se a uma pixuneira. Só faltavam, sentiu, amarrá-la ao tronco e Didico gritando-lhe: não és mais moça, hein? Não es mais virgem, hein? Qual foi o vaqueiro? E quando?
Cerrou os olhos e apertou qualquer coisa na mão. Esperaria [371] primeiro Edmundo que, por momentos, se fez difuso e indistinto em seu espírito. Os campos desapareciam, a mata se aproximava dela sob a toga do Juiz.
Ficou de bruços no chão, deste o calor lhe encheu o ventre e os seios como se a tornasse grávida, mãe enfim. E encolheu-se naquele regaço, tão extenuada, que desfaleceu.
Pouco depois voltou a si e olhou, numa vertigem, que era noite, noite absoluta. Ergueu-se, um frio tímido penetrou-a. Deu alguns passos, os joelhos vergaram.
Se ele passou sem a ter visto, se ele a viu ali, se ele passou, afinal, que restava a fazer.
Parecia-lhe que só ao longe o vento da noite soprava, o vento de Cachoeira que, outrora — como já estava distante esse tempo! — lhe desfiava longamente os cabelos à porta da casa velha.
Distinguiu um farol e tochas que sondavam a escuridão. E foi quando ouviu o grito de Alfredo, claro e repetido no campo escuro, chamando-a. Seguia-se a voz de Andreza. Pareciam correr pelo descampado, ansiosos, gritando sempre.
As vozes ora se distanciavam, ora aproximavam. Nitidamente o seu nome no grito de Alfredo. Que voz confiante a deles. Andreza gritava:
— Onde a senhora está? Responda!
Com que calor a chamavam! Aquelas vozes despertavam-na num ímpeto, recuperavam-lhe a consciência. Seu nome, no grito dos meninos, ressoava no campo. “Imagine se eles me encontrassem depois, me vissem...[”]
Mas já o veneno produzia efeito, a voz de Alfredo se aproximava. ‘Eu agora queria viver, meu Deus”, gemeu, a arrastar-se para trás de uns velhos troncos caídos. E tudo nela, em poucos minutos, se apagou antes de chegar o clarão do farol, as tochas e as vozes que há muito tempo a chamavam pelos campos.
Quando entrava na casa velha o corpo de Lucíola e Didico insistia em descobrir que resto de liquido era aquele no pequeno vidro achado ao pé dos troncos, entrava também a notícia de Edmundo ainda com febre no Saiu.
Pela primeira vez bebia cachaça disse ele sorrindo e mostrou [372] em silêncio uma carta do dr. Lustosa dando-lhe num prazo de trinta dias para retirar-se da fazenda, de acordo com as negociações feitas com o Banco. Vestido ainda de noivo, pôs-se a beber, bebeu silenciosamente ate que, cambaleando um pouco, teimou em montar no seu búfalo e largou-se, às onze da noite, para Marinatambalo.
Dois fatos o haviam também perturbado naquela semana: o apodrecimento dos peixes do lago Bentevi, na fazenda, e a história do Bezerro Mole. Esta era uma lenda, sabia, mas o vaqueiro que a contou, na noite da véspera, aparecera em Marinatambalo como realmente perseguido pela visagem. Da ponta do retiro de Arrependidos, saía, à noite, um bezerro que andava pelo campo, todo bambo, caindo aqui e ali, como sem ossos e com a febre. Crescia à proporção que se aproximava do vaqueiro. Tornava-se, então, ainda mais trôpego e mais mole, para de bem perto investir contra o viajante. Tirava vaqueiro da sela, derrubava cavalo e boi cargueiro, dominando o lavradão.
Por mais singular que pareça, refletia Edmundo, comparo esse bezerro ao irmão de Andreza, em busca de seus ossos. Certo ou não, a lembrança do menino toma conta de nossa vida. Lenda ou verdade, ocupa a fazenda.
Por que não acreditar quando o descampado lhe parecia mais enorme e mais solitário, alheia propriedade, território inimigo?
O outro fato, às vésperas do casamento. Em pouco tempo, no lago, os peixes começaram a morrer e a apodrecer, amontoando-se nas margens. Os vaqueiros e pescadores não puderam explicar. Ninguém se aproximava do lago por dois motivos: o mau cheiro e o ar de maldição que o cobria. D. Marciana recordou que Edgar Meneses mandara afogar ali um caboclo, fazia muitos anos. Os vaqueiros falavam, por fim, que os pássaros jaburus haviam pousado e o óleo de suas pernas envenenara os peixes. Daí em diante o lago secaria e d. Marciana acrescentava: Então vocês vão ver no fundo a sepultura do afogado, o amante de Adélia Meneses, quem sabia?
Edmundo foi ver o lago, deteve-se a cem metros de distancia pensando com zombaria: aqui é minha família que fede, sou eu, [373] não os mortos, é a propriedade.
Não quis ver nenhuma explicação natural daquilo e agora no seu regresso de Cachoeira, montado no búfalo, lhe subia o medo do lago, do Bezerro, o de perder-se e ao mesmo tempo de reaparecer ao mundo.
Por certo que a embriaguez e a febre o aturdiam, quase o levando ao delírio. O búfalo rompia o aterroado.
Várias noticias nos dias, semanas, meses, anos seguintes, correram pelas fazendas sobre a viagem de Edmundo. Pessoas de Cachoeira e vaqueiros da redondeza procuraram-no, rodearam o lago podre, defrontaram o mondongo, voltando com diferentes suposições e lendas. O fato é que, naquela noite, Edmundo, no seu búfalo, seguiu como se atravessasse a extensão dos crimes e dos castigos de sua família. Sentia-se perseguido e sem saída, ouvindo tropel e vozes. A noite, ventos se levantaram, o fedor do lago, o “não” de Lucíola que subia como um clamor de vítimas, o acossavam. Seguiram-no os tambores do Espírito Santo, abandonados no retiro onde os ossos do menino rangiam atrás do fogão, a febre dos vaqueiros causada pela visão da princesa do lago, o afogado, coberto de peixes, saindo das águas, perseguindo-o.
Os vaqueiros mortos deixavam de ser fantasmas, não vinham do outro mundo, não acreditavam mais nos outros lagos, nas outras fazendas, nos outros rebanhos prometidos. Saltavam dos cavalos e das porteiras, dos encontros com a onça e com os ventos descabelados do lavradão. Vinham com arpões e marcas de ferro em brasa, traziam os búfalos selvagens, as piranhas, os jacarés e as onças, as cascavéis e o Bezerro Mole contra os Meneses. Tambores, malhadas, orações, acalantos, os eias, gritos de Andreza, os berros inexplicáveis da noite dos descampados o arrastavam para o mondongo. A figura de Manuel Bolacha se levantava da raiz do acapuzeiro, batendo os queixos de febre e de ódio, como um javali. E para que todos alcançassem Edmundo e a avó, que fugia também na caleche incendiada, os lagos desatavam o canto dos galos do fundo d’água que os pescadores e os vaqueiros pensavam ouvir na solidão. Assim Manuel Bolacha ia crescendo, no seu alazão desembestado, sobre as fazendas, depósitos de farinha, [374] cartórios, sobre os amos brancos. Com as suas cordas violentas e os seus gritos redondos, os vaqueiros amansavam o Bezerro Mole, sangravam as vacas, do encanto delas libertavam as moças desaparecidas ou perdidas, restituindo a beleza, a mocidade e a inocência que os Meneses tiraram das mulheres campineiras.
Mais do que a embriaguez, ouvindo aquelas vozes e aquele tropel, o terror o invadia quando sentiu aproximar-se o mondongo. Era a selva dos charcos, fechada com seus bichos e a sua vastidão. Mondongo da culpa e da condenação em que se atolava com a sua propriedade e a sua miséria.
Agora, recebia o seu legado, o mondongo era seu. Entre as duas faixas pantanosas que atravessavam a desconhecida área, estavam as fazendas sonhadas e sempre invioláveis. Guardado pelas onças, jacarés e sucurijus, o lago de areia branca acenava-lhe com os deslumbrantes ninhais de garça e com o caminho da propriedade paradisíaca. Assim, no meio do mondongo, reencontraria a visão de sua juventude. Eva e a jibóia. Não voltaria mais até que a sombra de sua família se apagasse para sempre e Andreza pudesse caminhar livremente pelos campos.
Teria atravessado a primeira faixa do mondongo? Os vaqueiros contavam que enlouquecera com a agitação dos bichos e com o matagal dos pântanos ou conseguira transpor o “outro lado” que era o Sem Fim, o Deus te Guarde, o Alçapão, o Purgatório. Teria avistado a fazenda perdida? Outros afirmavam que foi visto na costa do Maguari apanhando um barco de garimpeiros.
Se avançou sobre o mondongo e se este o tragou, permitiu que ele se apossasse dos búfalos e acordasse, na sua fazenda, ouvindo, de madrugada, o canto dos galos submersos, não sabemos.
Para Alfredo aquela novidade foi um desafogo.
Prendia-se agora também à esperança de reconciliar os pais ou mante-los juntos, pelo menos aparentemente, com a sua simples presença. Julgou-se necessário ao chalé embora isso lhe desse a convicção de que não mais partiria.
Talvez para obter um descanso, voltar a falar espontaneamente com o Major, pensava o menino, sua mãe insistira tanto para que Lucíola viesse se vestir no chalé e oferecer ali uma mesa de doces aos convidados, Ou nova vingança contra as Gouveias?
Viu-a, ajudada por Sebastião e d. Marcelina, esfregar e ensaboar o soalho, lavando ruidosamente a casa. Ainda nessa lavagem da véspera, Alfredo sentiu-a um pouco tonta, excessiva na limpeza de tudo. E ficou quase certo de que sua mãe aproveitaria a ocasião para fazer uma das suas, para envergonhar Lucíola, humilhar o Major, zombar de Edmundo e seus parentes. D. Amélia lembrava: e aquela Meneses, da desfeita no Rodolfo? E agora? O que era tempo: aquele baile e este casamento.
Pôs-se a examinar na despensa este e aquele indício de garrafas clandestinas, se aparecera nos fundos, com embrulhos misteriosos, algum moleque, alguma mulher, se Inocência, chamada a auxiliar o serviço naquela tarde, havia ido ao Salu. Ignorava que Andreza pedira a este não vendesse mais um dedo de bebida aos moleques conhecidos de d. Amélia.
Quis ajudá-la a baldear a escada da frente para sentir-lhe o [355] hálito, surpreender-lhe algo de uma intenção extravagante, de um plano de escândalo. Fez tudo isso com um arrepio de mágoa, de culpa e de vergonha.
Edmundo aceitara tudo em silêncio, com um sorriso que dizia: o que fizeres, Lucíola, estará bem. Naqueles últimos dias, depois da cena de Edgar Meneses, a passividade dele era crescente. Andava tão desejoso de romper que nem sabia como sentar as idéias para desfazer o compromissos pensava Lucíola.
Lucíola enganava-se, no entanto. Edmundo fixara o casamento em seu espírito como uma resolução morna e triste da qual não se libertaria. Também o fato de ter despertado conversas e ate mesmo lendas a seu respeito chegava a excitá-lo. Saberia vingar-se de si mesmo, de sua família e de todos que queriam humilhar e caluniar Lucíola. Pelo menos, estaria de posse de uma responsabilidade, de um objetivo, de uma mulher.
Rodolfo se encarregou de mandar buscar as cadeiras, as mesmas, em número menor, que serviram ao teatrinho na casa de Lili, observou Alfredo. A mesa era a do chalé, sem nenhum polimentos cortada de faca, riscada, queimada do ferro de engomar, lisa das mãos e do sono do gato, habituada a servir muitas vezes nua ou com a toalha de algodão. A mãe forrou-a com uma toalha desconhecida, branca, bordada, que desintegrou a mesa do chalé transformando-a em móvel alheio. Alfredo tinha os olhos nos desenhos, ramagens, rosas, um vago aroma de casa rica. Era toalha nova? Não, concluiu. Parecia acostumada a belos jantares, a noites de aniversário e casamento, e tal era o abandono e a familiaridade a que se entregara a toalha ao cobrir a mesa que esta por certo, deveria estar, sob aquele luxo, abafada e fora de si mesma.
Depois sua mãe, silenciosamente, passou a colocar a louça também de rara qualidade e de procedência ignorada. Estranhas xícaras, compoteiras como pavilhões, centros de mesa, armações singulares para os doces e estes chegavam nas bandejas e nas formas com uma variedade, um colorido e um perfume que estontearam Alfredo.
Mas por uns minutos tudo aquilo o entristeceu. Em torno da mesa, como uma borboleta, deveria estar Mariinha. Logo achou [356] fora de propósito que sua mãe, depois da morte da filha, na mesma mesa onde pousou o cadáver entre tantas flores — hoje desfeitas sobre uns ossinhos de anjo — deixasse nascer aquela floração de pães-de-ló e pudins. Debaixo daquela toalha restariam ainda, entre as humildes tábuas, resíduos de comida, principalmente farinha, deixados por Maria de Nazaré. Restava a marca do corpo da irmã, o enigma de sua morte súbita, a pressão de sua recusa de morrer, impregnando a madeira. Sua mãe, nesses minutos, não parecia preparar uma mesa de casamento, mas o esquife de alguém, o dele, se subitamente lhe viesse aquela febre. Ou a sepultura mesmo de Maninha transportada pelo pensamento da mãe para a mesa?
Entre aquelas flores e os pudins, iriam carocinhos, o beijo de Andreza, o intangível colégio.
A mãe esticava a toalha, dobrava-lhe as pontas com alfinetes, dispunha os pratos com o mesmo silêncio e o mesmo vagar de quem inventasse um jogo difícil. Como sabia dominar todos aqueles objetos que não eram seus e tão satisfeitos de sua submissão. Suas mãos davam uma ordem e uma vida à mesa nupcial, como se estivesse, agora, preparando-a para o casamento que desejava ter.
Queria ver a mãe, de véu e grinalda, distribuindo botões de laranjeira. Deveria ela queixar-se de não ter casado, não ter uma fotografia de casamento? Gostaria que ela pelo menos pudesse preparar a mesa de casamento da Mariinha.
Voltou-se para a janela. Dadá trazia embrulhos, o rosto coberto de tapioca.
Deu uns passos, o gato roçou-lhe as pernas. Aproximou-se da mãe para dizer-lhe:
— Por que está tão calada? Está se lembrando de Mariinha?
Mas não disse nada. Não quis perturbá-la. Estava ali, lúcida, negra criada servindo uma branca, mas negra que não perdesse nunca a consciência do quanto valiam as suas mãos sem ensinar a ninguém a arte de arrumar e enfeitar que é um dom quase mágico.
Andreza veio espiar os preparativos que eram marcados por um ritmo de silêncio e de indefinida expectativa sensível aos meninos.
Rodolfo, de calça de casimira, resistente lembrança do [357] extinto montepio, não tinha desta vez as mãos sujas de tipógrafo. Só uma vez confiou a d. Amélia:
— Por meu gosto, Lucíola não se casava com esse rapaz. Mas minha irmã não é livre?
Rodolfo dizia: os Meneses, a seu ver, mereciam cadeia. O último deles arrancava-lhe a irmã para aquele casamento tão fora de propósito. Tinha pena de Lucíola. Devia mesmo saber o que queria? Coitada, depois de tantos anos de solteirona, ia amparar-se àquela ruína que lhe aparecia sob a forma de um belo homem. Reparara nos olhos da irmã, já não lhe pareciam tão murchos. Que fôlego tem a esperança, refletia. Mas não atinava na resolução do rapaz, por que a escolhera, por quê? Via-o no búfalo, muito branco como um peixe arapapá, soberbo e triste, caminhando pelos campos. Toda aquela educação da Inglaterra, aquele porte, tudo aquilo, para Lucíola? Para a tapera de Marinatambalo?
Afinal, dissera, certo momento, numa explosão sombria, eram irmãos pelo mesmo ventre, mas de pais diversos e quase todos desconhecidos. Durante 30 anos desde menino procurara saber, com uma curiosidade vã e monótona. Conhecer o pai, sem nunca perguntar à mãe, para melhor odiá-lo ou rir ao examiná-lo da cabeça aos pés, dizendo consigo: aqui estou eu, velho patife, esta obra de acaso, de uma noitada de que já nem mesmo terá lembrança. Vingo-me botando filhos nas outras que talvez nunca adivinharão quem sou. Hoje, mudava de pensamento, mudava.
Quantas vezes, no largo da igreja, em noites de festa, vendo fazendeiros com suas famílias, advogados, comerciantes, barqueiros, indagava a si mesmo: Qual deles? Lucíola sabia do seu. Lembrava-se bem, uma noite de festa de Nazaré, na hora do leilão, disse-lhe ao ouvido: Estás vendo aquele ali? E teu pai. Era um fazendeiro de Anajás que nem ao menos olhou para ela, de braço dado com as duas filhas, fazendo lances no leilão. Dadá adivinhara quem era o seu pai e Rodolfo a viu tomando-lhe a bênção. Quando morreu, ela discretamente vestiu luto. Didico descobrira o seu e fingia ignorá-lo. E o meu? resmungava o tipógrafo.
Para Didico, o ponteiro, o casamento daria rumo à família. Os Saraivas, que traziam o nome de um homem pai de nenhum [358] deles, doador de um montepio à velha Rosália, seriam um tronco amanhã novo e de ventres legais. E para cúmulo do destino, surgira um Meneses para enxertar a arvore espúria. Era a liga de argamassa que faltava para sustentar a desconjuntada parede dos Saraivas na sociedade.
Penteando o cabelo de mulato partido ao meio, Rodolfo acompanhava o trabalho de d. Amélia. Faltava arrumar as cadeiras e buscar os panos bordados, cedidos por d. Glorinha. O tipógrafo passara brilhantina na cabeça, estava se vendo. Os bigodes bem torcidos, O queixo barbeado não deveria picar o rosto das crianças quando, com a barba de um dia, gostava de malinar. E os suspensórios. E o lenço cheirando que ele tirou do bolso para enxugar o cangote. Andreza e Alfredo olhavam-no com insolente malícia.
E Lucíola, onde estava? Era a pergunta silenciosa dos dois que viam Dadá, de chinelas, trazendo o enxoval para o quarto. Por onde vagava naquele sábado a noiva invisível?
Dadá trouxera as garrafas de vinho do Porto. E um licor de tangerina. Os convidados não seriam muitos. Andreza pensou furtar uma daquelas garrafas de gargalo comprido como pescoço de garça. Seria doce beber, queimando docemente a barriga, sentindo o vinho deslizar pelo coração, quente e doce. Alfredo admirava os vinhos que lhe falavam de viagens. Finos cálices trazia Dadá com tamanho cuidado. As garrafas pareciam conter perfume e não vinho. Se as destampassem, ficariam de súbito vazias. Andreza passava então a ter vontade de quebrar tudo aquilo, de cuspir nos doces, em nome de seu avó, do pai assassinado, do irmão desaparecido.
D. Amélia não ignorava que havia um movimento de pessoas subindo e descendo a rua de baixo, as cabeças espichadas para o chalé. Lucíola não aparecia. Edmundo ainda na fazenda. Andreza acreditou que Lucíola estava rezando para aparecer menos feia no braço do sobrinho do matador de seu pai. Vendo a mesa pronta, a menina teve uma repentina crise de choro, a cabeça na parede, as lágrimas no soalho, sentindo no cabelo a mão de d. Amélia que cheirava a toalha, a papel de seda e a pudim. Alfredo coçava o pescoço, perplexo. A luz caindo por uma fresta do teto alcançou [359] uma das garrafas de vinho como se quisesse bebê-lo. Andreza, de costas para a mesa, para o grande vinho iluminado, tornara-se escura, suja, coitadinha... Mas Alfredo deu com Lucíola à porta do corredor, papelinhos nos cabelos, chinelas, o vestido da véspera, como se tivesse sido noiva há 20 anos.
Viera chocada com a indagação tardia de Dadá: se tinha sido conveniente aceitar o chalé, se seria social vestir e receber os convidados onde a dona não era casada e, para cima do mais, uma preta que não podia dar nem ao menos uma aparência de senhora do Major. Dadá não dissera isso apenas por preconceito, também por precaução, prevenida contra Cachoeira, sobretudo por se tratar de Edmundo. Se o casamento saísse da casa do dr. Adalberto, o efeito seria outro, seria mais condigno. Mas não foi falta de lembrança... acrescentou Dadá. Como Lucíola nada respondia, a conversa cessou.
Lucíola considerava-se mais em segurança no chalé do que em qualquer casa. A sua vontade era ter ficado ali na casa velha. Mas os irmãos verificaram o estado do soalho e a desiludiram. Enfim preferiu vestir-se no quarto de d. Amélia. Assim evitaria que as cunhadas do dr. Adalberto e outras moças com ares de cidade viessem vesti-la, invadir a intimidade daqueles preparativos.
Agora via Andreza enxugando os olhos diante da mesa branca, cheia e florida, como diante de um túmulo. Ali estava para meter pena e ganhar carinhos de Alfredo, invocando as mortes da família causadas pelos Meneses. Andreza envenenava tudo aquilo. Seu pranto umedecia os doces, salgava o vinho, ensopava o enxoval.
D. Amélia mandou os meninos descerem para o campo. Mas Lucíola voltou à casa velha. Os dois ficaram então rondando o chalé que lhes parecia proibido.
Meia-hora depois, vencendo a vigilância de d. Amélia, Alfredo e Andreza penetraram no quarto e deram com um grande espelho desconhecido. Pucarinas. Caixas de pó de arroz. Vidros de perfume “Coração de Joaninha”, “Três Lágrimas”... Descobriram na velha cama de ferro agora armada — que curava as cãibras de [360] d. Amélia — a caixa de grinalda, do véu e do embrulho em papel azul do vestido da noiva. A menina despregou os alfinetes e levantou o vestido, longo, imenso. Quanto pano, que macio, como estava bem passado! Adiante as roupas virgens de baixo. A caixa de sapatos. As meias. As luvas que ela calçou, mergulhando as sujas e pequenas mãos curiosas. Andreza excitava-se. E as alianças? Onde? Não vira nenhum anel nos dedos de Lucíola. A grinalda cheirava a caixão de defunto.
Vendo-a através do grande espelho, Alfredo achou-a estranha, como se tivesse crescido, já em pleno noivado. Ralhou com ela. Retirou-se deixando-a a olhar o vestido espalhado na cama.
Alisava a musselina, que lhe fugia, branca e fluída, entre os dedos. Suspendeu o comprido véu, cobrindo-se com ele e foi olhar ao espelho. Ficara sumida, tão insignificante naquele véu, sem nenhum ar de moça.
Cautelosamente depôs o véu sobre a cama. E voltou a admirar o vestido. Era uma nuvem estendida sobre o leito. Todo aquele enxoval parecia abandonado. Quis atirar-se na cama, embrulhar-se naquilo tudo... E se amarrotasse o vestido e o lançasse pela janela para depois enterrá-lo? Um desejo de malvadeza espicaçava-a e foi Alfredo que a tirou do quarto.
A varanda ganhara, afinal, embora sem alegria, uma cor nupcial. Major acordara da sestinha na saleta. Os bancos retirados para o corredor. Desfigurava-se a varanda. A tipografia oculta sob grossas folhas de papel. O chalé estava alugado mesmo, fora de si.
Quando Lucíola entrou novamente, a hora se aproximava. Duas moças haviam chegado. A costureira conversava alegremente na cozinha.
Pesada de apreensões, ainda sob o choque de ver Andreza chorando, Lucíola preparava-se para entregar-se a tirania de d. Doduca, ao trabalho do penteado, àquela miúda e longa intimidade da improvisada toilete em que tudo seria tocado e revisto pelas mulheres. Sentia em volta de si a vila inteira espreitando-a, desnudando-a, vestindo, penteando, despenteando-a, examinando-lhe a grinalda, a anágua, as fivelas dos sapatos. Relanceou o olhar à procura de Alfredo. Queria falar-lhe, dizer-lhe talvez adeus, despedir-se [361] como solteira, ao lado dele, da casa velha.
D. Amélia anunciava ao Major que o fato estava pronto. Ela ficaria no chalé, seu lugar era ali. Presumia-se quase a autora daquela cerimônia inteira, em que suas mãos tocavam em tudo. Major aproveitou para falar da esquisitice de Edmundo que mandara dizer que se vestiria no corpo da guarda, onde o tio continuava detido.
Quando d. Doduca, ao passar para o quarto, lhe disse com alegre naturalidade: vamos, mea filha, Lucíola estremeceu. D. Amélia levou-a pelo braço para uma cadeira diante do grande espelho. Já a costureira esperava com rolos e pentes na mão. Entrou Dadá que logo saiu e duas senhoras, parentas distantes da noiva, entraram sem serem convidadas, taciturnas e atentas.
D. Doduca soltou-lhe os cabelos, retirando os papelotes, penteou-os, conversando sobre a papeira do sobrinho.
— Agora é do que se fala, meu Deus. Papeira em todo o mundo. Até o Carivaldo, tamanha caverna, de queixo tufadão.
Lucíola recostou-se na cadeira, abandonada e aérea. Algumas visões revoaram em seu cérebro, pensamentos de Alfredo, o arquejar dos animais na manhã da caça, a noite passada em companhia da irmã. Sobretudo temor, preocupação de que o quarto não se enchesse de gente. As mãos da costureira, auxiliada por d. Amélia e pelas duas mulheres, trabalhavam, desfiando e enrolando aqueles cabelos dóceis e maduros.
D. Doduca não sabia que penteado fazer. Por uma espécie de escrúpulo e receio não consultara Lucíola e esta se mantinha neutra, sem vontade. D. Amélia aguardava a decisão da costureira que dobrava os cabelos, agora silenciosa e vacilante, enquanto as parentas espiavam, cheias de grampos e desse desvelo tão familiar que ninguém dá conta. De repente, duas cabeças de moças apontaram na porta entreaberta e Lucíola viu-lhes as pestanas vivas, os queixos bisbilhoteiros, depois os pés avançaram... Resmungou que fechassem a porta. A costureira gritou festivamente:
— Aqui não se entra. Vão namorar primeiro e me chamem depois, seus diabos!
[362] — Mas nós queríamos ajudar. Quem ajuda a preparar noiva casa cedo.
D. Amélia encostou a porta. As moças excitavam-se pela parede, sob o calor. Lucíola queria que só ficassem no quarto as pessoas de maior precisão. Não queria moças ali. D. Amélia quebrou o silêncio com uma observação que repuxou os nervos de Lucíola:
— Me parece, d. Doduca, que este não vai dar certo. Vai mesmo?
A costureira parou, ergueu as mãos espalmadas. As maçãs do rosto suavam e pontas do cabelo calam-lhe pelas orelhas. A obra estava a meio. As duas parentas entreolharam-se. D. Amélia examinou os contornos do penteado, dizendo intimamente: eu faria melhor. Sacudiu de leve a cabeça num aceno desaprovador. Não era penteado para Lucíola. Não lhe ficava bem. Aquela pastinha talvez pudesse passar se fosse espichada sobre a testa. A costureira meneou a cabeça, também recuou, refletindo como um engenheiro diante de uma planta e deu razão a d. Amélia.
— Justamente, d. Amélia. Este não se ajusta com o véu. Não se dá bem com ela.
E toda aquela construção desabou silenciosamente produzindo novo e profundo choque em Lucíola sempre calada, os olhos baixos, a dor de cabeça, as mãos frias; a notícia de que o noivo se vestia no corpo da guarda. Nem uma vez a voz de Alfredo. Até quando esse suplício? Diante dela, presente como ninguém, aquele espelho avassalador. E Andreza fazia sentir a sua presença ao pé da porta porque d. Amélia ralhou em voz baixa:
— Menina, não entra. Pra fora. Menina aqui não é chamada.
Lucíola pedia que o tempo voasse.
A curiosidade de Andreza aumentava-lhe a tensão. Por cima de sua cabeça, as duas mulheres por certo trocavam olhares de desapontamento e desanimo, crentes de que não havia penteado algum, nada que mudasse aquela figura. Ela sentia, ela sabia. Ora, ora, se não estavam escarnecendo.
Quis levantar-se para dizer que ela mesma se preparava, seu cabelo estranhava mãos alheias. Também não confessaria que era feia, que... Mas d. Doduca voltou ao trabalho com maior [363] determinação e falou das mucuras que andavam desfalcando o seu galinheiro.
— A senhora, d. Amélia, não gosta de mucura? Não? Nem sabe o que perde. Bem preparado é uma galinha. Deixe estar que um dia eu lhe preparo uma, a senhora come e só depois vai saber que foi mucura.
Acompanhando pelo espelho o andamento de sua obra, d. Doduca trabalhava um pouco negligentemente para melhor exibir o domínio de sua habilidade. Lucíola tentava ouvir também as conversas lá fora, com a expectativa de que as moças invadissem o quarto e fossem assistir àquela operação sem esperança e ridícula que era a de transformá-la em um manequim de véu e grinalda, fantasiado de noiva. Aquelas mulheres se preocupavam em escondê-la dos outros por uma serie de artifícios que a tornavam mais exposta e mais nua em sua confusão e em seu desgosto. Por que confiara naquelas mulheres? Edmundo estaria esperando-a no corpo da guarda? Se naquela hora apanhasse uma lancha, uma embarcação qualquer, partisse? Nesse instante, com efeito, uma lancha apitava de passagem pela vila. Dadá por que não aparecia? Ah, compreendendo que era vão dar-lhe a aparência de uma noiva, fugira para não ver o espetáculo, abandonava-a. E se tudo sofria, naquele momento, apreensiva, escarnecida, desamparada, por que aceitara o casamento? Pediu um lenço para enxugar o suor do pescoço. Aquelas mãos tirânicas em seu cabelo escavavam-lhe a consciência.
— Pronto, agora sim. Te olha no espelho, mea filha.
Ergueu a cabeça como surpreendida e deu com o penteado.
— Está bem?
Sem responder, ela pediu o vestido que desceu sobre o corpo como sobre uma coisa ausente. Estava de pé diante do espelho que a repelia. Atrás, d. Doduca corrigindo este e aquele detalhe e d. Amélia lhe ajeitava as mangas.
— Mea filha, tu ainda está descalça. D. Teresa, traga os sapatos dali, sim. E ande um pouco pra gente ver, sua moça.
Lá fora, o cochicho das moças como se espiassem pelas fechaduras. Distinguia os pulos de Andreza. Uma banda da janela do [364] quarto abriu-se para deixar vir de longe um azul caindo pelos campos. A lancha passara apitando. E aí d. Amélia interveio, numa voz tranqüila:
— Mas d. Doduca. Espere um pouco. Repare que esse penteado...
E ficou visto que, com o véu e a grinalda, o penteado não correspondia. Desmanchara-se outra vez o cabelo. Retiraram-se os grampos e os rolos. A costureira entrou novamente a apanhar e a voltear aquela massa como um mestre pedreiro. Estava disposta a erguer a fachada difícil, a vencer aquela resistência da natureza, a quebrar a manifesta vontade da noiva em não ajudar, metida naquele mutismo e naquela ausência.
— Olha, Lucíola, mea filha... eu sei o que é esta hora, mas converse, te distrai...
Doduca e Amélia não se casaram, refletiu Lucíola. Ambas se vingavam. Ambas lastimavam que esse casamento não fosse o delas, há anos atrás. Uma onda de vergonha cobriu a moça decidida a dizer “basta”, entendendo que tudo aquilo era feito de propósito para torturá-la, para rirem dela.
Quando terminou o penteado, que se ajustou o quanto foi possível ao véu, à grinalda e ao vestido, segundo a opinião das mulheres, a noiva foi declarada pronta. Lucíola trazia na alma todo o mudo diálogo que se travou entre aquelas mulheres durante a dolorosa toilete. D. Amélia empoou-lhe o rosto e como não havia batom nem carmim pintou-lhe os lábios com papel encarnado umedecido e coloriu-lhe também as faces. Mandaram-na que se mirasse novamente no espelho.
— Usa da franqueza, Lucíola, e diz se está a teu gosto. Se não, tem tempo ainda.
Acenou que estava bem, olhando para os sapatos. D. Amélia empoou-lhe o colo, o pescoço e calçou-lhe as luvas.
— Na hora de assinar, tire a luva, está ouvindo?
Distraidamente deu consigo mirando-se no velho espelho do chalé que lhe deu visão de uma noiva, sim, mas de uma fotografia desbotada, de há quantos anos... E lembrou-se que bem poderia ter dito a Alfredo: aqui está o enxoval de sua noiva e não meu.
[365] Era como se retirasse do fundo do armário o vestido de um casamento desfeito e exibisse para dar-se à ilusão de que iria casar de verdade. As mãos suavam dentro das luvas. D. Amélia espichando a cabeça para a varanda falou que fossem buscar os brincos esquecidos. A noiva nos sapatos de salto alto andava mal e o cheiro do véu, da grinalda, das luvas e do vestido envolvia-a como se estivesse encerrada numa caixa de armarinho. D. Amélia, enquanto esperava os brincos, deu-lhe o perfume, o leque e escancarou as janelas do quarto.
Quando a noiva apareceu na varanda, logo se fez anunciar a partida para a Intendência. Major Alberto, tímido, com um risonho constrangimento, tomou-lhe o braço enluvado; a noiva sentia as pernas mortas.
Na rua havia menos gente do que pensava. Isto a desapontou de uma certa maneira, pois estava preparada ou resignada a enfrentar o maior número de pessoas. Na ausência delas, via apenas conspiração, os olhos espiando atrás das portas e pelas frestas.
As moças atrás e a seu lado caminhavam discretas e lhe pareciam ostensivamente lindas. As meninas do Salu amparavam-lhe o véu. Mas, adiante, descalços e empoeirados, Alfredo e Andreza saltavam como se cavalgassem a pororoca. A tarde de gordas nuvens explodia em arco-íris, vento e sol. Debruçados no denso arco-íris, os meninos, as moças, as árvores, os gaviões e os bois bebiam a água das nuvens.
Ao chegar defronte da casa velha, Lucíola entregou o buquê a Dadá:
— Esperem um pouco. Tenho de rezar... E uma promessa...
O cortejo estacou. Olhando da janela, d. Amélia disse:
— Mas meu Deus, que ainda foi fazer lá? Já se viu...
E teve a rápida impressão de que aquilo era enterro e que esperavam o caixão sair da casa dos Saraivas.
Com o véu preso ao braço, Lucíola entrou na casa velha, ajoelhando-se diante do quadro de São Expedito. Enxugou com as luvas os olhos que ardiam. Lembrou-se que sua mãe... Sim, [366] grande dia aquele para sua mãe! Pobre mãe. E seu pai? Que diria agora? Nunca a abençoou, nunca lhe falou, que pensaria ele? Aonde andaria? Depois do casamento, sem dúvida reconhecê-la-ia como filha. O vento, invadindo a casa deserta, assoviava.
Foi rapidamente ao quarto — por onde dormia a jibóia? A jibóia que viera dar sorte à casa, ou a que se acha dentro de Edmundo? Apanhou a caixa dos cueiros e dos brinquedos de Alfredo. Era do tempo em que engatinhava, ou pedia colo e queria passear: Mamãe, ciá! Mamãe, ciá! E ali estava recolhida a infância dele, o menino, lá na rua, nada mais era senão homem.
Por isso, pelas últimas semanas agitadas, sua paixão pelo menino se extinguia. Daí em diante, ter filhos não significava ser a mãe que fora para Alfredo, virgem mãe de um deus, como Nossa Senhora, como dizia, adeus o filho esperado na sua juventude, a promessa de vida sufocada em si mesma, a insondável esperança que o olhar do menino refletia. E tinha acontecido o que sempre temeu: a paixão, com todo o gosto do sacrifício e da sua incontinência materna, transferira-se, com efeito, arrastando-a para um homem, desta vez um homem! Em vez de Alfredo, teria de acompanhar Edmundo, a quem o casamento era uma das suas maneiras de anular-se inteiramente, aceitar a ruína e ficar solitário com os crimes de Edgar Meneses. Perdera Alfredo, porque este avançava impetuosamente para o mundo com a sua ambição, o seu desprezo e a sua revolta por tudo que era aquele chalé, a casa velha e a casa grande de Marinatambalo. Mas haveria de perder Edmundo porque este, descendo o caminho oposto, deixaria em pouco de ser o homem que agora amava. E com esse temor seguia, muda e vagarosa, no cortejo que, na sua impressão, causava riso e pena a todo inundo. Por certo, estariam dizendo: lá vai a pobre. Agarra-te com esse com unhas e dentes, e olha que já deste o tiro na macaca.
Aquele velho sentimento de lástima de si mesma subia-lhe do coração, misturado ao seu crescente temor.
Sentia-se, por isso mesmo, rebaixada. Descera de uma obsessão materna (sim, mas Alfredo merecia), para entregar-se impura e amarga, com a paixão de solteirona, a um estranho, de uma [367] família de assassinos. Seu ardor não era mais que o dos desejos há tanto tempo em decomposição e dos sonhos insepultos, como um fogo fátuo.
Caminhando, errante e só — como ia silencioso o cortejo! — Lucíola compreendia que não caminhava agora para um lar, para uma família. Por que faltou a decisão de arrancar o véu ao descer da casa velha e dizer: não vou mais? Por que se acovardou de voltar à sua solidão, sem Alfredo nem Edmundo, tão ex-noiva como tantas, mas liberta daqueles olhares e daquela pantomima? A consciência de sua fraqueza dominava-a. Não soubera conquistar Alfredo, como não soubera fazer Edmundo confessar a verdade à menina, condenar o tio e assim recomeçar a vida. Tornara-se cúmplice dos Meneses e o ódio de Andreza selara aquele casamento. Os ossos da criança eram o seu dote de noiva.
A satisfação de Didico ao abrir a Intendência, naquela tarde, so era comparável à do seu distante primeiro dia de porteiro municipal.
O mormaço subia da poeira, das pedras, da maré seca, dos cachorros pirentos, dos porcos na rua, da suada sonolência geral, quando o porteiro escancarou a porta e as janelas. Havia lavado as vidraças. Espanou, pela segunda vez naquele sábado, os sofás, a mesa, o recinto gradeado onde se reunia o Conselho Municipal e o Tribunal do Júri. Renovou a tinta, mudou as penas, pôs a toalha das cerimônias cívicas, um vaso de flores e trouxe ainda uma folha nova de mata-borrão.
Ficou mirando a inútil instalação da extinta luz elétrica e o relógio de parede.
Com as chaves na mão, à porta, já de paletó e um lenço de pontas viradas e perfumadas no bolso, viu e esperou o cortejo da noiva, como se assumisse a autoridade mesma do intendente que os velhos retratos lhe transmitiam. Do caminho oposto, vindos pelo aterro, o Juiz de Direito, o escrivão, o resto dos convidados. Pelo campo, mulheres com panos na cabeça aproximavam-se, receosas.
[368] Pouco depois que entrou a noiva, o Juiz chegava, vagaroso, cabisbaixo, escolhendo caminho, enxugando-se com o lenço, soprando o cansaço e o calor. Trazia roupa creme, o grosso bigode meio ruivo, a fala nordestina e logo se dirigiu para a mesa, vestindo a toga com a ajuda do escrivão.
— Então, Major, como vamos com a nossa interminável Prática das Falências? perguntou ele, compassadamente, em tom pilhérico, pondo o lenço tímido ao pé do vaso de flores.
Major Alberto, sorrindo, afirmou que a obra caminhava. O Juiz riu vagarosamente como se sentenciasse.
Lucíola continuava de pé entre as moças, entregue, enfim, à voracidade delas. Aos poucos, defronte da rua se acumulou uma assistência que cochichava e ria surdamente. Mas todos se voltaram num surpreendido sussurro, dando passagem a Edmundo que saíra do corpo da guarda e entrou, sozinho, de preto, afável e pálido, mordendo os lábios. À porta do corredor, sentado num tamborete, de blusa, classicamente preso de justiça, Edgar Meneses espiava. Ao dar com ele, Lucíola baixou a cabeça, com um começo de náusea, os dedos enluvados tremiam, as lágrimas de Andreza escorriam-lhe pelo coração.
O noivo, entre alguns rapazes, queixou-se de paludismo. Minutos depois, as mãos esfriaram e quando o escrivão o convidou a sentar ao lado da noiva, estava já com febre. Concentrou-se para não pensar em nada, resistir àquela febre lenta e baixa que o consumia e lhe dava a sensação de mergulhar num morno atoleiro. Edgar Meneses espiava da porta, esverdeado, a barbicha, o olhar viscoso. A um latido à porta — Didico enxotara um cão — Lucíola voltou-se para as janelas da rua sobre as quais penduravam-se cabeças, apenas olhos, bocas entreabertas. Via Andreza, suspensa, a metade do corpo para dentro do salão, os olhos fixos nela, enormes. E sentado no batente, surgia Alfredo, descalço, os joelhos pretos, maltrapilho, a olhar tudo aquilo com uma calculada e alegre indiferença.
Vendo os padrinhos se aproximarem para o ato, Lucíola encolheu-se sob o véu, só e cheia de impressões, o olhar de Edgar Meneses, os ossos da criança, os tachos roubados, Adélia [369] enroscada no tronco como se fosse no amante. Andreza debruçada na janela. O relógio movendo o pêndulo, com uma solenidade de carrasco, cortava o tempo em fatias que se pulverizavam pelo salão, sobre os retratos, sobre aquela gente amanhã para sempre desaparecida. Nem uma só vez fitara o noivo que lhe apertou a mão enluvada. Pareceu-lhe aquilo tudo um inquérito policial, um júri em que ela e Edmundo fossem os réus. Viu a velha avó chicoteando as bestas da carruagem a caminho da Intendência para desfazer a cerimônia, a brutalidade de Edmundo lá dentro do homem como a cobra no quarto de Diana, via Alfredo fugindo novamente, desta vez para perder-se no mondongo. A murmuração da rua gelava-lhe os pés. O Juiz a seu lado, com a toga, poderia desembrulhar de repente os ossos do anjo? O escrivão, o livro grosso já aberto, as flores faziam-na ver cair do relógio, como uma lâmina sobre a nuca, o minuto do compromisso. Tudo aquilo acontecia e que fiz eu? era seu pensamento. Junto, arqueado e em febre, o noivo, de preto. E escutou o Juiz, de voz pausada, perguntar como se inquirisse sobre o crime, se o noivo era de espontânea vontade... Edmundo Logo apressou-se a responder, como se confessasse:
— Sim.
Lucíola sentiu-se manietada, os pés pareciam sangrar, o coração pesava-lhe, ao ouvir novamente a pergunta, agora para ela. Tinha a duração da Leitura de autos num júri e quando o Juiz acabou, a noiva respondeu, seca e breve:
— Não.
Ouviu, confusamente, a exclamação de Dadá no murmúrio geral. Com um aceno que impôs silêncio e fez retirar da sala Edgar Meneses, o Juiz voltado para ela, proferiu, de novo, a pergunta, pesando as palavras com um firme vagar numa inquirição decisiva. Lucíola, tensa, sob os apelos da irmã, a advertência do Juiz, o risinho de uma menina na janela, deixou escapar três vezes “não” como se falasse por todas as que se arrependiam tarde do casamento. O movimento da rua cresceu, invadindo o salão. Iria desmaiar? Dadá detinha os passos do Juiz, tentando convencê-lo de que havia sido engano e confusão, a irmã se achava nervosa...
[370] Edmundo, sentado ainda, como ausente, cruzou as mãos sobre a nuca. Então Lucíola, amparada por d. Doduca, abriu ala entre a pequena multidão que se comprimia em silêncio e saiu.
D. Amélia, no chalé, junto à mesa de doces, viu foi o cortejo voltando e parar defronte da padaria, as moças dispersarem, o véu arrastar-se pelo chão e a noiva entrar, seguida de Rodolfo, na casa velha.
Tudo para Lucíola se passava num relâmpago pelo qual fosse arremessada àquele caminho no campo, com o seu vestido da véspera, sem rumo nem consciência de si mesma. Do tumulto da casa velha, trouxera algumas palavras “vergonha”, “honra”, “confirmou-se o que dizia a vila” e com nitidez a exclamação, caluniosa, de Didico. Sentiu, apenas, a mão de Rodolfo alisando-lhe o ombro.
Por isso, com todo o seu atordoamento, pôde ainda caminhar até o igarapé da Chácara para esperar, antes de tudo, o Edmundo que deveria regressar por ali naquela tarde, como era seu hábito. E esperava-o para explicar-lhe ou abandonar-se a ele e provar assim que o irmão mentia, a vila mentia, Didico a difamava.
Queriam motivos para explicar o que sucedeu, como se tudo pudesse ter imediata explicação, como se tudo estivesse claro em seu espírito, em sua vida.
Os acontecimentos tinham-lhe sido ora um breve minuto, ora uma eternidade. O vagar e a velocidade do tempo agiam sobre os seus sentidos como duas forças que se entrechocavam. Sem olhar, no céu avermelhado, as nuvens em brasa do crepúsculo, via a noite caindo e logo, olhando os campos que se aveludavam sob a sombra, acreditava que a tarde não findava. E sobre a tarde descia, negro, com asas de arminho, o Juiz de Direito despejando a pergunta.
Encostou-se a uma pixuneira. Só faltavam, sentiu, amarrá-la ao tronco e Didico gritando-lhe: não és mais moça, hein? Não es mais virgem, hein? Qual foi o vaqueiro? E quando?
Cerrou os olhos e apertou qualquer coisa na mão. Esperaria [371] primeiro Edmundo que, por momentos, se fez difuso e indistinto em seu espírito. Os campos desapareciam, a mata se aproximava dela sob a toga do Juiz.
Ficou de bruços no chão, deste o calor lhe encheu o ventre e os seios como se a tornasse grávida, mãe enfim. E encolheu-se naquele regaço, tão extenuada, que desfaleceu.
Pouco depois voltou a si e olhou, numa vertigem, que era noite, noite absoluta. Ergueu-se, um frio tímido penetrou-a. Deu alguns passos, os joelhos vergaram.
Se ele passou sem a ter visto, se ele a viu ali, se ele passou, afinal, que restava a fazer.
Parecia-lhe que só ao longe o vento da noite soprava, o vento de Cachoeira que, outrora — como já estava distante esse tempo! — lhe desfiava longamente os cabelos à porta da casa velha.
Distinguiu um farol e tochas que sondavam a escuridão. E foi quando ouviu o grito de Alfredo, claro e repetido no campo escuro, chamando-a. Seguia-se a voz de Andreza. Pareciam correr pelo descampado, ansiosos, gritando sempre.
As vozes ora se distanciavam, ora aproximavam. Nitidamente o seu nome no grito de Alfredo. Que voz confiante a deles. Andreza gritava:
— Onde a senhora está? Responda!
Com que calor a chamavam! Aquelas vozes despertavam-na num ímpeto, recuperavam-lhe a consciência. Seu nome, no grito dos meninos, ressoava no campo. “Imagine se eles me encontrassem depois, me vissem...[”]
Mas já o veneno produzia efeito, a voz de Alfredo se aproximava. ‘Eu agora queria viver, meu Deus”, gemeu, a arrastar-se para trás de uns velhos troncos caídos. E tudo nela, em poucos minutos, se apagou antes de chegar o clarão do farol, as tochas e as vozes que há muito tempo a chamavam pelos campos.
Quando entrava na casa velha o corpo de Lucíola e Didico insistia em descobrir que resto de liquido era aquele no pequeno vidro achado ao pé dos troncos, entrava também a notícia de Edmundo ainda com febre no Saiu.
Pela primeira vez bebia cachaça disse ele sorrindo e mostrou [372] em silêncio uma carta do dr. Lustosa dando-lhe num prazo de trinta dias para retirar-se da fazenda, de acordo com as negociações feitas com o Banco. Vestido ainda de noivo, pôs-se a beber, bebeu silenciosamente ate que, cambaleando um pouco, teimou em montar no seu búfalo e largou-se, às onze da noite, para Marinatambalo.
Dois fatos o haviam também perturbado naquela semana: o apodrecimento dos peixes do lago Bentevi, na fazenda, e a história do Bezerro Mole. Esta era uma lenda, sabia, mas o vaqueiro que a contou, na noite da véspera, aparecera em Marinatambalo como realmente perseguido pela visagem. Da ponta do retiro de Arrependidos, saía, à noite, um bezerro que andava pelo campo, todo bambo, caindo aqui e ali, como sem ossos e com a febre. Crescia à proporção que se aproximava do vaqueiro. Tornava-se, então, ainda mais trôpego e mais mole, para de bem perto investir contra o viajante. Tirava vaqueiro da sela, derrubava cavalo e boi cargueiro, dominando o lavradão.
Por mais singular que pareça, refletia Edmundo, comparo esse bezerro ao irmão de Andreza, em busca de seus ossos. Certo ou não, a lembrança do menino toma conta de nossa vida. Lenda ou verdade, ocupa a fazenda.
Por que não acreditar quando o descampado lhe parecia mais enorme e mais solitário, alheia propriedade, território inimigo?
O outro fato, às vésperas do casamento. Em pouco tempo, no lago, os peixes começaram a morrer e a apodrecer, amontoando-se nas margens. Os vaqueiros e pescadores não puderam explicar. Ninguém se aproximava do lago por dois motivos: o mau cheiro e o ar de maldição que o cobria. D. Marciana recordou que Edgar Meneses mandara afogar ali um caboclo, fazia muitos anos. Os vaqueiros falavam, por fim, que os pássaros jaburus haviam pousado e o óleo de suas pernas envenenara os peixes. Daí em diante o lago secaria e d. Marciana acrescentava: Então vocês vão ver no fundo a sepultura do afogado, o amante de Adélia Meneses, quem sabia?
Edmundo foi ver o lago, deteve-se a cem metros de distancia pensando com zombaria: aqui é minha família que fede, sou eu, [373] não os mortos, é a propriedade.
Não quis ver nenhuma explicação natural daquilo e agora no seu regresso de Cachoeira, montado no búfalo, lhe subia o medo do lago, do Bezerro, o de perder-se e ao mesmo tempo de reaparecer ao mundo.
Por certo que a embriaguez e a febre o aturdiam, quase o levando ao delírio. O búfalo rompia o aterroado.
Várias noticias nos dias, semanas, meses, anos seguintes, correram pelas fazendas sobre a viagem de Edmundo. Pessoas de Cachoeira e vaqueiros da redondeza procuraram-no, rodearam o lago podre, defrontaram o mondongo, voltando com diferentes suposições e lendas. O fato é que, naquela noite, Edmundo, no seu búfalo, seguiu como se atravessasse a extensão dos crimes e dos castigos de sua família. Sentia-se perseguido e sem saída, ouvindo tropel e vozes. A noite, ventos se levantaram, o fedor do lago, o “não” de Lucíola que subia como um clamor de vítimas, o acossavam. Seguiram-no os tambores do Espírito Santo, abandonados no retiro onde os ossos do menino rangiam atrás do fogão, a febre dos vaqueiros causada pela visão da princesa do lago, o afogado, coberto de peixes, saindo das águas, perseguindo-o.
Os vaqueiros mortos deixavam de ser fantasmas, não vinham do outro mundo, não acreditavam mais nos outros lagos, nas outras fazendas, nos outros rebanhos prometidos. Saltavam dos cavalos e das porteiras, dos encontros com a onça e com os ventos descabelados do lavradão. Vinham com arpões e marcas de ferro em brasa, traziam os búfalos selvagens, as piranhas, os jacarés e as onças, as cascavéis e o Bezerro Mole contra os Meneses. Tambores, malhadas, orações, acalantos, os eias, gritos de Andreza, os berros inexplicáveis da noite dos descampados o arrastavam para o mondongo. A figura de Manuel Bolacha se levantava da raiz do acapuzeiro, batendo os queixos de febre e de ódio, como um javali. E para que todos alcançassem Edmundo e a avó, que fugia também na caleche incendiada, os lagos desatavam o canto dos galos do fundo d’água que os pescadores e os vaqueiros pensavam ouvir na solidão. Assim Manuel Bolacha ia crescendo, no seu alazão desembestado, sobre as fazendas, depósitos de farinha, [374] cartórios, sobre os amos brancos. Com as suas cordas violentas e os seus gritos redondos, os vaqueiros amansavam o Bezerro Mole, sangravam as vacas, do encanto delas libertavam as moças desaparecidas ou perdidas, restituindo a beleza, a mocidade e a inocência que os Meneses tiraram das mulheres campineiras.
Mais do que a embriaguez, ouvindo aquelas vozes e aquele tropel, o terror o invadia quando sentiu aproximar-se o mondongo. Era a selva dos charcos, fechada com seus bichos e a sua vastidão. Mondongo da culpa e da condenação em que se atolava com a sua propriedade e a sua miséria.
Agora, recebia o seu legado, o mondongo era seu. Entre as duas faixas pantanosas que atravessavam a desconhecida área, estavam as fazendas sonhadas e sempre invioláveis. Guardado pelas onças, jacarés e sucurijus, o lago de areia branca acenava-lhe com os deslumbrantes ninhais de garça e com o caminho da propriedade paradisíaca. Assim, no meio do mondongo, reencontraria a visão de sua juventude. Eva e a jibóia. Não voltaria mais até que a sombra de sua família se apagasse para sempre e Andreza pudesse caminhar livremente pelos campos.
Teria atravessado a primeira faixa do mondongo? Os vaqueiros contavam que enlouquecera com a agitação dos bichos e com o matagal dos pântanos ou conseguira transpor o “outro lado” que era o Sem Fim, o Deus te Guarde, o Alçapão, o Purgatório. Teria avistado a fazenda perdida? Outros afirmavam que foi visto na costa do Maguari apanhando um barco de garimpeiros.
Se avançou sobre o mondongo e se este o tragou, permitiu que ele se apossasse dos búfalos e acordasse, na sua fazenda, ouvindo, de madrugada, o canto dos galos submersos, não sabemos.
[375]
14
Em fevereiro, major Alberto fez a sua viagem anual a Muaná para rever as filhas.
Encontrou o mesmo ninho de cabas à beira do telhado, o mesmo camarão frito ou assado de espeto, o igual cozidinho de há tantos anos no almoço, quase sempre o café com pão ou beijus no jantar. A cega tamborilava os dedos na ponta da mesa ou se embalava no quarto mal clareado por uma telha de vidro cheia de teia de aranha. Lá dentro, na cozinha, a conversa sussurrada das duas filhas, de avental, que não saíam de casa e tudo sabiam das outras.
Ali acreditava, vagamente, descansar do chalé, da Intendência, dos catálogos, de Cachoeira, com um passageiro desejo de permanecer muito tempo. Pelo menos, Muaná era terra enxuta, como dizia, onde se poderia criar galinha e peru. De início, sentia ali a verdadeira casa, a família, reinstalava-se legalmente na sociedade como um Coimbra, irmão da mulher que o furtara, mas mulher de Juiz no Tocantins, tão ciosa do nome, mãe de um médico e sogra de um capitão do Exército. Ao lembrar-se disso, sorria reconhecendo que era, afinal, o melhor ainda da família. Depois resvalava para o único prazer de mudar, temporariamente, de alguns hábitos numa curta disponibilidade, a sensação também de que a casa deixara de ser sua para pertencer apenas às filhas, principalmente à cega. E estranhava que em todos aqueles vagarosos anos não tivesse reparado melhor que as filhas não casaram, agora para sempre solteiras. Na casa de Muaná tratava a sociedade de igual para igual, embora poucas pessoas visitassem as Coimbras. No [376] chalé, onde ia muita gente, as senhoras apareciam com um ar de indulgência e de quase cumplicidade, como se praticassem uma risonha contravenção. E d. Amélia as recebia sem prevenção nem humildade.
Major, em pouco tempo, não distinguia esta daquela casa, confundindo-as na mesma família. Não sustentava ambas? E apesar das distantes decepções da política, dos recentes desgostos da Intendência e das duas casas, da inutilidade dos projetos e dos ofícios, suas mãos tamborilavam no peitoril da janela, marcando um ritmo de sossego e de otimismo, um envelhecer que se regalava a da própria velhice.
Já no fim da semana, sentia a ausência de Amélia nas mínimas coisas, num tempero, para o comentário de uma notícia da Europa ou de uma descoberta astronômica, nos próprios ânimos encrespados que se chocavam para o maior desespero de Alfredo. Na casa de Muaná, faltava também sentir a ausência de Mariinha.
As filhas medindo-lhe a impaciência, irritavam-se desejando que ele regressasse cedo ou mandasse buscá-la. Compreendiam que d. Amélia, outrora negra de pé no chão, não era mais a inimiga, deixara de ser uma vergonha. Como nada sabiam ainda do que se passava no chalé, desejavam que ela viesse a Muaná, como dantes e as visitasse para conversarem e juntas se queixarem do pouco ordenado, das manias e da filosofia do Major.
Visitava o tabelião que lhe repetia, como todos os anos, as suas impressões de Camilo Castelo Branco. Noutra hora, a professora estadual à sombra da mangueira — onde preferia recebê-lo com receio da velha e aluída casa em que também funcionava a escola — lhe contava que o seu atraso no Tesouro atingira o quarto mês. Pela manhã, dava uma volta até a engenhoca “Meu Sossego”. O dono, um português gordo e tostado, sem camisa, lhe oferecia garapa e não ocultava os velhos desejos de ser um dia intendente de Muaná pelo Partido Conservador para “melhorar aquilo a toque de caixa”. Depois da sesta, entretinha-se o resto da tarde na foguetaria de um parente que perdera um braço e a mulher numa explosão. Em tudo a ausência do chalé, a ausência das mãos de Amélia atando-lhe o nó da gravata. Por que Amélia se [377] precipitara naquilo? Que motivos, qual a origem? Era necessário que as filhas ignorassem, mas até quando? Teria sido culpa dele ou mal de herança? Os irmãos dela continuavam os mesmos, pretos de correção exemplar. O pai, sim, talvez fosse o finado velho Bibiano, caboclo com sangue português, bom amigo do óleo. Ouvia os recentes tombos dela no chalé, a tentativa de incendiar o mosquiteiro com a lamparina, os gritos no quintal, a expressão de féria, o terror do filho embrulhando-se na rede. Contudo sentia falta, mais do que falta, saudade.
Quem o visse abençoar maquinalmente a cega, havia de julgá-lo habituado àquela cegueira. Dentro da noite, na sala onde dormia, ficava escutando, horas, aquele embalo compassado na escuridão do quarto contíguo, uma tosse, a leve cantiga interrompida, os pés roçando o soalho, um toque de mão na parede, a suspensão do embalo, o andar em direção da cozinha. Ele, rapidamente, se levantava e falava do corredor:
— És tu, Marialva? Que é?
— Água. Vou beber. Deixe que eu tiro.
Uma voz murcha, remota, adequada à solidão e a cegueira. Ele esperava, ouvindo o tinir do caneco, o mergulho no pote e a cega bebia silenciosamente. Depois, o rosto dela alvejando na sombra, de volta, como se toda a força de ver em Marialva ou a visão perdida e a sua vida interior se fizessem visíveis naquela face transparente, naquelas mãos exatas no conhecimento da ponta da mesa, o lugar do pote, ao desviar-se do banco, ao entrar no quarto... E o pai voltava a ouvir o embalo regular, semelhante ao tique-taque de um relógio. Quantos embalos no dia, quantos à noite? Que significava aquela contagem de tempo, aquela vida e que sonhava ela, que queria? Por que não morreu ela e sim Mariinha?
Com o silêncio, pé ante pé, ia vê-la. Dormia como pessoa de vista sã. Todos agora tinham os olhos escuros de sono, numa cegueira unanime. Dormia como se esperasse acordar, amanha, vendo. Imagine, pensou ele, se ao beijar-lhe as pálpebras, ela acordasse assustada e me visse.
Voltava à sala, tossindo um pouco. Duas meninas mortas, tão ruidosamente meninas, pesavam-lhe no peito e como estaria Amélia? Deitou-se, o olhar no forro da sala, escutando.
[378] Na ausência do Major, o irmão de d. Amélia decidiu seguir para Belém ou para o Sul. D. Amélia, então, teve a lembrança de dar uma festa no chalé em despedida de Sebastião. Chamou Leônidas e disse, fingindo seriedade, mas decidida e franca:
— Eu sei, Leônidas, que tu sendo um Coimbra é rapaz da alta, noivo da filha adotiva de um desembargador. Enfim branco, do... — temperou a garganta — hum... preto. Mas tem paciência, tu vai organizar comigo uma festa pro meu irmão aqui em casa. Um baile. Mas desta vez um baile de segunda. Aqui só se fala em baile quando são as moças da alta que dançam. Pois eu vou fazer aqui no chalé uma festa só de moças de segunda e será baile. E obrigado a convites impressos. Rodolfo vai fazer. Sei que vou dar o que falar. Mas que o baile sai, sai.
Rodolfo entrava, nessa hora, trazendo notícias da casa de d. Violante. Haviam desaparecido nas cercas do dr. Lustosa as tabuletas de proibição. O administrador dera queixa ao tenente de polícia.
— Anda, deixa de parte, Rodolfo, eu te conheço. Não foi arte do Raul?
D. Amélia perguntava, baixo, fingindo indiferença, quase certa de tudo, cheia ao mesmo tempo de cumplicidade.
Rodolfo, então, confessou que sim. Com ajuda de Sebastião, ele e Raul atiraram as tabuletas no rio.
Dias depois, chegava de Belém uma lancha escoteira, trazendo um monte de tabuletas novas e ordens para protegê-las com vigias armados ao pé das cercas.
— Mas não bastam os vigias armados, Rodolfo?
— Dr. Lustosa quer as tabuletas. Acha que é de lei e serve como enfeite da propriedade. Depois as letras fazem lembrar ao povo que é preciso aprender a ler.
— Ah, possível, mas não! Conversa direito, rapaz.
— Quero perder a fala, se estou inventando. Foi na casa do tabelião, ele não pediu segredo. Lustosa quer a proibição com todos os efes e erres.
Estavam agora, Raul, Sebastião e o tipógrafo pensando em expor à porta do mercado uma grande tabuleta, como um testamento [379] de Judas, contra o fazendeiro.
— Pena é que o Major não deixe sair nada na “Gazetinha”.
— Por que?
Rodolfo teve um espanto com aquela pergunta. Até onde podia mesmo o Major impedir no jornal uma boa notícia sobre as tabuletas?
— Bem, falou d. Amélia, façam a tabuleta mas, me cuida dos convites para o baile, Rodolfo. É. Será um baile.
Sabia que era também a maneira de ganhar simpatia de uma porção de moças proibidas de entrar, como o irmão, nos bailes do Cachoeirense, das Gouveias, dos Pessoas. As moças a defenderiam contra o que se falava dela, contra o que se passara, por exemplo, na noite de São Marçal. Saberia portar-se no baile como se nunca tivesse provado um licor.
Essas reflexões flutuavam em seu espírito quase obscuras, como se temesse ter plena consciência delas, ou alguém ouvisse.
Leônidas, encabulado com a incumbência, tão assíduo aos bailes de primeira, sobrinho do secretário, deixava-se levar, porém, a participar dos preparativos da festa. Como explicar um baile de segunda no chalé, em despedida do preto Sebastião? Se ali não ficava bem um baile de primeira, que não se fizesse nenhum. D. Amélia mandou-o redigir o convite, impresso por Rodolfo e distribuído na rua das Palhas e nas barracas da Boa Vista, pelo Sebastião.
Alfredo a princípio reagiu contra a festa, sobretudo temendo o que faria sua mãe. Andreza viu-lhe o ar casmurro, o alheamento aos preparativos, fez-lhe perguntas. Por fim, compreendendo, disse que d. Amélia ia mostrar que as moças pobrezinhas, as moças de segunda, brancas sem serem brancas, morenas, mas sempre pretas e pretas de pele escura, podiam dançar num baile. Podiam dançar no chalé do major Alberto sem deixar mancha nenhuma nas paredes.
— E tu te envergonha de tua mãe? Hein? E das moças convidadas? Se Mariinha crescesse dançava em baile de primeira... mas levava d. Amélia?
Alfredo olhou espantado para a amiga e viu que ela estava mais alta do que ele. E que era quase branca.
[380] Como esquecer a tímida alegria das moças chegando, o ar de agradecimento e de triunfo que havia nelas, todas rodeando a mãe, e viu Cândida, a Luzia da Maria Mirim, Sabina, Zenaide, Eulásia, Dolorosa, a alva Eduarda, a retinta Isabel, cheias de Leques e jasmins, se empoando no quarto e logo perfeitamente íntimas do chalé, dançando diante das caixas de tipos, tudo fazendo para que respeito, ordem e educação houvesse durante o baile. Sim, refletia Alfredo, se Mariinha fosse moça, daria sua mãe este baile?
Sentou-se entre os músicos e o prelinho Didot. No intervalo da dança, dizia Cândida, acariciando-lhe o queixo com a ponta do leque:
— Olhe, olhe... A nossa, ouviu?
Pura faceirice, modos de se fazer mais preciosa, certo artifício de moça não acostumada a um baile. Tonta da festa e dos seus 16 anos, desejava que até o menino se enamorasse dela também. Mas ele não perdia de vista a mãe que dirigia o baile com natural serenidade, a par de tudo, o olho no comportamento dos rapazes de primeira que ali estavam, bem composta, dada com todos, mas sem maiores intimidades. O tio, negro e teso no seu paletó branco, feito por Leônidas, dançava inegavelmente melhor que o alfaiate. Alfredo sentia-se mais alto que a Andreza, ao ver o dia raiando sob o derradeiro som da flauta a espalhar-se pelos campos. Adormeceu com o cheiro e as vozes das moças cobrindo-lhe o sono.
[381] Ao regressar, mais cedo que pensava, major Alberto com o bilhete de Amélia enfiado entre os dedos, dava rápidas e raivosas passadas no chalé inteiro, como se quisesse andar nas paredes, subir no telhado, desabafar-se com os camundongos e seguir numa lancha para trazer a companheira pelos cabelos Lá de Belém, onde ela foi despedir do irmão.
— Maluca. Dando por lá os seus espetáculos. Degradante.
Espiava à porta da cozinha. Era a Inocência, pesada, sobre as panelas, o perfil cor de barro, índia. Saía para a Intendência carregado de suposições e suspeitas. A ausência de Amélia em Muaná [381] tivera um acréscimo amargo.
— Então fique-se por lá. Fique-se. Aqui não me entra mais. Ah, não me entra...
Abria o catálogo, procurava as chinelas como se procurasse Amélia. Minu tinha o focinho erguido para ele, úmido de solidariedade.
Alfredo, ao vê-lo, instintivamente riu. Refugiou-se no tanque que transbordava de gado, ou seja, de caroços de tucumã e de inajá. O pai se danava, mas a viagem era quase certa. A mãe, aproveitando a partida do irmão, fora a Belém arranjar casa onde pudesse deixá-lo. Partiria. Belém, enfim. Belém! A lancha defronte, apitando Beleeém... Adeus, Folha Miúda. Adeus, cemitérios. Adeus, ilustre pai.
Subia ao chalé, saltava sobre as costas de Inocência escorregando aos trancos pelas maçãs da bunda que o atirava ao chão. De volta, na carreira, suspendia-lhe a saia saindo para o quintal: eu vi, eu vi. E Inocência com a boca em bico: xô, xô, gavião, xô! Assim o encontrou Andreza. Ele foi se escoando entre as estacas da horta e o olhar dela em cima, inevitável.
Andreza deixou-o para ver o Major a embalar-se sombriamente na saleta, vago e arrepiado na varanda, atento ao apito das lanchas. Por vingança ou por cuidado, as duas coisas juntas, Andreza correu para o menino, perguntando-lhe:
— E tua mãe? Não volta mais?
Foi então que, repelindo a ofensa, Alfredo sentiu que a sua mãe demorava.
Passaram os dias, barcos e lanchas saindo e chegando sem ela. Uma tarde, sabendo que Alfredo se metera na despensa, Andreza foi à cozinha e disse alto para ele ouvir:
— Ah, pensei que Alfredo estivesse. Gosto tanto dele, Inocência, tu pensa..
E logo dando a entender que Inocência lhe respondia ao ouvido ou falava muito baixo, continuou:
— E certo que a mãe dele não volta mais? Hein? Fala mais alto. Agora és tu que estás tomando conta da casa? Ah, é? Pode falar que ninguém está ouvindo. Ah, é? O que está me dizendo...
[382] — Não estou te dizendo nada, sua demoninha. Xô, saracura do lago.
Inocência expulsou-a, mas Alfredo surgiu batendo o pé para a cabocla.
Daí em diante deixava de falar com Inocência e permitia que Andreza continuasse a sentar a seu Lado na ponte já armada do chalé para o aterro.
Mas, uma noite, ansioso, sem sono, atraiu-o uma conversa entre o pai e Leônidas que falavam baixo, debruçados numa das janelas do chalé. O assunto tinha intervalos, Major chamava a atenção do sobrinho para esta e aquela estrela, para as Três Marias e descobria afinal a posição do Cruzeiro. Leônidas temperava sucessivamente a garganta. O menino ouviu do pai isto, entre pausas e rodeios:
— É. Foi isso. Naquele estado... Sabe-se lá... Pegou-se lá com um... Você sabe... Tem lá umas primas. Pegou-se, psiu... e... E lá se foi.
Leônidas confirmava o descobrimento do Cruzeiro. Era, era o Cruzeiro. E o “Lá se foi” ecoava numeroso dentro do menino, ricocheteava no soalho e no telhado. Lá se foi.
Recolheu-se ao quarto, a ferida da perna doía-lhe como a do seu peito, invisível e crescente. Leônidas não confirmava a posição do Cruzeiro, mas as palavras do pai.
As grandes chuvas desabaram.
Começou a ver o pai afundado na rede, corcovado, a caminho da Intendência. Tinha de ir sempre buscar, em companhia de Andreza, o quilo de carne no mercado. O tijuco do aterro segurava nos pés que vinham calçados nele. Andreza nadava nas valas cheias. De uma delas, uma tarde, saiu nua porque um moleque lhe arrancara o vestido puído, desfeito em pedaços. Alfredo atirou-lhe da janela um camisão de Mariinha. Ela tirava-lhe o tijuco grosso dos pés, mas falando: e tua mãe? Dá cá o outro pé. E tua mãe? Que fim levou? Que tu fizeste com a Inocência pra dizer “eu vi, eu vi” e depois ficar mal com ela?
Alfredo bateu-lhe com o pé e gritou: suspendi a saia dela, como vou suspender a tua.
[383] Andreza escapou na corrente da vala, a vala descia para o rio, o rio que levava a Belém.
— Seu péssimo, seu péssimo. Vou contar pro meu tio.
Ele atrás, na beira da vala, ela adiante, tropeçando ou mergulhando.
— Teu tio? Coitado. Com a barriga entre as pernas? Compra uma vela pra ele.
— Mas tua mãe foi embora. Ela bebe. Tua mãe fugiu com um homem. Fiau pro teu pai e pra ti, menino órfão de mãe viva!
Com um galho de algodoeiro brabo, enxotava-a da vala para o rio, os redemoinhos da correnteza faziam girar as canaranas. A vala espraiou-se e entrou no rio, levando a menina que avançou para um pau de bubuia. Este rolou, liso, fugindo às mãozinhas já aflitas e aí gritou Alfredo para uma montaria parada lá adiante. Era o Didico, que a pescou.
Sem dizer nada um para o outro, choravam então ambos a ausência de d. Amélia e foi aos abraços e aos pulos, no teso da beirada, que viram, um domingo, passar a “Guilherme” com muitos barcos a reboque cheios de velas alçadas secando ao sol, mastaréus, bandeirinhas, passageiros sobre os toldos e junto a um mastro, sozinha, a mãe que acenava para eles dois.
Viram depois o Major, o rosto que nem cal, rápido e tremulamente, abraçá-la e beijá-la em ambas as faces. O pretume dela, naquele instante, esvaía-se de surpresa e susto. E mal refeita das demonstrações, despindo-se ainda no quarto, chamou o filho, fechou a porta, disse, baixo e firme:
— Você vai.
Durante o dia da partida, na hora do embarque à noite, procurou Andreza nos algodoais, ao pé das valas, sob os soalhos, no casarão do coronel Bernardo, na padaria junto ao forno, atrás do reino das formigas, no pardieiro onde o tio gemia sob as moscas. Cadê Andreza?
Seu pai o abençoou sem palavras, dois dedos brancos e breves roçaram-lhe os lábios. Que vontade de abraçá-lo, por que não lhe [384] dizia nada, nem um conselho? O coração subia e descia, mas Andreza?
Chegaram ao trapiche sob o chuvisco. Seria mesmo a partida? Achou-a agora demasiadamente fácil, inesperada, diferente, diferente do que imaginava. Faltava-lhe o encanto da fuga, a outra viagem continuaria nele para que fosse um dia realizada.
À frente, levado pela Inocência, o velho candeeiro de quem saiu o fogo que queimou Mariinha. Esperava embarcar como um passarinho solto e o coração se fechava em uns quantos sentimentos novos e informes, na sensação de que o chalé ia dentro, consigo, e ao mesmo tempo o via afogado na enchente de abril. Mas Andreza?
Ela lhe dissera, na véspera, por pura brincadeira, que mandaria tocar os sinos. Primeiro, dobrando de saudade, depois, imitando o nome Belém.
Teria ido tocar os sinos? Seria capaz de tudo. Mas os sinos não tocavam. Talvez estivessem tocando, não podia ouvir por causa do misterioso rumor que há sempre em nós quando partimos. Tudo adiante era escuro, pegajoso, nem a faísca de um cigarro. Então as tochas que descobriram Lucíola, no campo, invadiram-lhe a consciência, medo de Lucíola. Lucíola seguiria Andreza, esta de pés grudados no tijuco, não poderia caminhar mais.
Apalpou no bolsinho a oração que a Inocência lhe dera, ao fazerem as pazes. Esperando o barco desatracar e enquanto a mãe dava as últimas recomendações à Inocência, entrou na camarinha e à luz do farol foi decifrando a rude letra no pedaço de papel de embrulho:
Encontrou o mesmo ninho de cabas à beira do telhado, o mesmo camarão frito ou assado de espeto, o igual cozidinho de há tantos anos no almoço, quase sempre o café com pão ou beijus no jantar. A cega tamborilava os dedos na ponta da mesa ou se embalava no quarto mal clareado por uma telha de vidro cheia de teia de aranha. Lá dentro, na cozinha, a conversa sussurrada das duas filhas, de avental, que não saíam de casa e tudo sabiam das outras.
Ali acreditava, vagamente, descansar do chalé, da Intendência, dos catálogos, de Cachoeira, com um passageiro desejo de permanecer muito tempo. Pelo menos, Muaná era terra enxuta, como dizia, onde se poderia criar galinha e peru. De início, sentia ali a verdadeira casa, a família, reinstalava-se legalmente na sociedade como um Coimbra, irmão da mulher que o furtara, mas mulher de Juiz no Tocantins, tão ciosa do nome, mãe de um médico e sogra de um capitão do Exército. Ao lembrar-se disso, sorria reconhecendo que era, afinal, o melhor ainda da família. Depois resvalava para o único prazer de mudar, temporariamente, de alguns hábitos numa curta disponibilidade, a sensação também de que a casa deixara de ser sua para pertencer apenas às filhas, principalmente à cega. E estranhava que em todos aqueles vagarosos anos não tivesse reparado melhor que as filhas não casaram, agora para sempre solteiras. Na casa de Muaná tratava a sociedade de igual para igual, embora poucas pessoas visitassem as Coimbras. No [376] chalé, onde ia muita gente, as senhoras apareciam com um ar de indulgência e de quase cumplicidade, como se praticassem uma risonha contravenção. E d. Amélia as recebia sem prevenção nem humildade.
Major, em pouco tempo, não distinguia esta daquela casa, confundindo-as na mesma família. Não sustentava ambas? E apesar das distantes decepções da política, dos recentes desgostos da Intendência e das duas casas, da inutilidade dos projetos e dos ofícios, suas mãos tamborilavam no peitoril da janela, marcando um ritmo de sossego e de otimismo, um envelhecer que se regalava a da própria velhice.
Já no fim da semana, sentia a ausência de Amélia nas mínimas coisas, num tempero, para o comentário de uma notícia da Europa ou de uma descoberta astronômica, nos próprios ânimos encrespados que se chocavam para o maior desespero de Alfredo. Na casa de Muaná, faltava também sentir a ausência de Mariinha.
As filhas medindo-lhe a impaciência, irritavam-se desejando que ele regressasse cedo ou mandasse buscá-la. Compreendiam que d. Amélia, outrora negra de pé no chão, não era mais a inimiga, deixara de ser uma vergonha. Como nada sabiam ainda do que se passava no chalé, desejavam que ela viesse a Muaná, como dantes e as visitasse para conversarem e juntas se queixarem do pouco ordenado, das manias e da filosofia do Major.
Visitava o tabelião que lhe repetia, como todos os anos, as suas impressões de Camilo Castelo Branco. Noutra hora, a professora estadual à sombra da mangueira — onde preferia recebê-lo com receio da velha e aluída casa em que também funcionava a escola — lhe contava que o seu atraso no Tesouro atingira o quarto mês. Pela manhã, dava uma volta até a engenhoca “Meu Sossego”. O dono, um português gordo e tostado, sem camisa, lhe oferecia garapa e não ocultava os velhos desejos de ser um dia intendente de Muaná pelo Partido Conservador para “melhorar aquilo a toque de caixa”. Depois da sesta, entretinha-se o resto da tarde na foguetaria de um parente que perdera um braço e a mulher numa explosão. Em tudo a ausência do chalé, a ausência das mãos de Amélia atando-lhe o nó da gravata. Por que Amélia se [377] precipitara naquilo? Que motivos, qual a origem? Era necessário que as filhas ignorassem, mas até quando? Teria sido culpa dele ou mal de herança? Os irmãos dela continuavam os mesmos, pretos de correção exemplar. O pai, sim, talvez fosse o finado velho Bibiano, caboclo com sangue português, bom amigo do óleo. Ouvia os recentes tombos dela no chalé, a tentativa de incendiar o mosquiteiro com a lamparina, os gritos no quintal, a expressão de féria, o terror do filho embrulhando-se na rede. Contudo sentia falta, mais do que falta, saudade.
Quem o visse abençoar maquinalmente a cega, havia de julgá-lo habituado àquela cegueira. Dentro da noite, na sala onde dormia, ficava escutando, horas, aquele embalo compassado na escuridão do quarto contíguo, uma tosse, a leve cantiga interrompida, os pés roçando o soalho, um toque de mão na parede, a suspensão do embalo, o andar em direção da cozinha. Ele, rapidamente, se levantava e falava do corredor:
— És tu, Marialva? Que é?
— Água. Vou beber. Deixe que eu tiro.
Uma voz murcha, remota, adequada à solidão e a cegueira. Ele esperava, ouvindo o tinir do caneco, o mergulho no pote e a cega bebia silenciosamente. Depois, o rosto dela alvejando na sombra, de volta, como se toda a força de ver em Marialva ou a visão perdida e a sua vida interior se fizessem visíveis naquela face transparente, naquelas mãos exatas no conhecimento da ponta da mesa, o lugar do pote, ao desviar-se do banco, ao entrar no quarto... E o pai voltava a ouvir o embalo regular, semelhante ao tique-taque de um relógio. Quantos embalos no dia, quantos à noite? Que significava aquela contagem de tempo, aquela vida e que sonhava ela, que queria? Por que não morreu ela e sim Mariinha?
Com o silêncio, pé ante pé, ia vê-la. Dormia como pessoa de vista sã. Todos agora tinham os olhos escuros de sono, numa cegueira unanime. Dormia como se esperasse acordar, amanha, vendo. Imagine, pensou ele, se ao beijar-lhe as pálpebras, ela acordasse assustada e me visse.
Voltava à sala, tossindo um pouco. Duas meninas mortas, tão ruidosamente meninas, pesavam-lhe no peito e como estaria Amélia? Deitou-se, o olhar no forro da sala, escutando.
[378] Na ausência do Major, o irmão de d. Amélia decidiu seguir para Belém ou para o Sul. D. Amélia, então, teve a lembrança de dar uma festa no chalé em despedida de Sebastião. Chamou Leônidas e disse, fingindo seriedade, mas decidida e franca:
— Eu sei, Leônidas, que tu sendo um Coimbra é rapaz da alta, noivo da filha adotiva de um desembargador. Enfim branco, do... — temperou a garganta — hum... preto. Mas tem paciência, tu vai organizar comigo uma festa pro meu irmão aqui em casa. Um baile. Mas desta vez um baile de segunda. Aqui só se fala em baile quando são as moças da alta que dançam. Pois eu vou fazer aqui no chalé uma festa só de moças de segunda e será baile. E obrigado a convites impressos. Rodolfo vai fazer. Sei que vou dar o que falar. Mas que o baile sai, sai.
Rodolfo entrava, nessa hora, trazendo notícias da casa de d. Violante. Haviam desaparecido nas cercas do dr. Lustosa as tabuletas de proibição. O administrador dera queixa ao tenente de polícia.
— Anda, deixa de parte, Rodolfo, eu te conheço. Não foi arte do Raul?
D. Amélia perguntava, baixo, fingindo indiferença, quase certa de tudo, cheia ao mesmo tempo de cumplicidade.
Rodolfo, então, confessou que sim. Com ajuda de Sebastião, ele e Raul atiraram as tabuletas no rio.
Dias depois, chegava de Belém uma lancha escoteira, trazendo um monte de tabuletas novas e ordens para protegê-las com vigias armados ao pé das cercas.
— Mas não bastam os vigias armados, Rodolfo?
— Dr. Lustosa quer as tabuletas. Acha que é de lei e serve como enfeite da propriedade. Depois as letras fazem lembrar ao povo que é preciso aprender a ler.
— Ah, possível, mas não! Conversa direito, rapaz.
— Quero perder a fala, se estou inventando. Foi na casa do tabelião, ele não pediu segredo. Lustosa quer a proibição com todos os efes e erres.
Estavam agora, Raul, Sebastião e o tipógrafo pensando em expor à porta do mercado uma grande tabuleta, como um testamento [379] de Judas, contra o fazendeiro.
— Pena é que o Major não deixe sair nada na “Gazetinha”.
— Por que?
Rodolfo teve um espanto com aquela pergunta. Até onde podia mesmo o Major impedir no jornal uma boa notícia sobre as tabuletas?
— Bem, falou d. Amélia, façam a tabuleta mas, me cuida dos convites para o baile, Rodolfo. É. Será um baile.
Sabia que era também a maneira de ganhar simpatia de uma porção de moças proibidas de entrar, como o irmão, nos bailes do Cachoeirense, das Gouveias, dos Pessoas. As moças a defenderiam contra o que se falava dela, contra o que se passara, por exemplo, na noite de São Marçal. Saberia portar-se no baile como se nunca tivesse provado um licor.
Essas reflexões flutuavam em seu espírito quase obscuras, como se temesse ter plena consciência delas, ou alguém ouvisse.
Leônidas, encabulado com a incumbência, tão assíduo aos bailes de primeira, sobrinho do secretário, deixava-se levar, porém, a participar dos preparativos da festa. Como explicar um baile de segunda no chalé, em despedida do preto Sebastião? Se ali não ficava bem um baile de primeira, que não se fizesse nenhum. D. Amélia mandou-o redigir o convite, impresso por Rodolfo e distribuído na rua das Palhas e nas barracas da Boa Vista, pelo Sebastião.
Alfredo a princípio reagiu contra a festa, sobretudo temendo o que faria sua mãe. Andreza viu-lhe o ar casmurro, o alheamento aos preparativos, fez-lhe perguntas. Por fim, compreendendo, disse que d. Amélia ia mostrar que as moças pobrezinhas, as moças de segunda, brancas sem serem brancas, morenas, mas sempre pretas e pretas de pele escura, podiam dançar num baile. Podiam dançar no chalé do major Alberto sem deixar mancha nenhuma nas paredes.
— E tu te envergonha de tua mãe? Hein? E das moças convidadas? Se Mariinha crescesse dançava em baile de primeira... mas levava d. Amélia?
Alfredo olhou espantado para a amiga e viu que ela estava mais alta do que ele. E que era quase branca.
[380] Como esquecer a tímida alegria das moças chegando, o ar de agradecimento e de triunfo que havia nelas, todas rodeando a mãe, e viu Cândida, a Luzia da Maria Mirim, Sabina, Zenaide, Eulásia, Dolorosa, a alva Eduarda, a retinta Isabel, cheias de Leques e jasmins, se empoando no quarto e logo perfeitamente íntimas do chalé, dançando diante das caixas de tipos, tudo fazendo para que respeito, ordem e educação houvesse durante o baile. Sim, refletia Alfredo, se Mariinha fosse moça, daria sua mãe este baile?
Sentou-se entre os músicos e o prelinho Didot. No intervalo da dança, dizia Cândida, acariciando-lhe o queixo com a ponta do leque:
— Olhe, olhe... A nossa, ouviu?
Pura faceirice, modos de se fazer mais preciosa, certo artifício de moça não acostumada a um baile. Tonta da festa e dos seus 16 anos, desejava que até o menino se enamorasse dela também. Mas ele não perdia de vista a mãe que dirigia o baile com natural serenidade, a par de tudo, o olho no comportamento dos rapazes de primeira que ali estavam, bem composta, dada com todos, mas sem maiores intimidades. O tio, negro e teso no seu paletó branco, feito por Leônidas, dançava inegavelmente melhor que o alfaiate. Alfredo sentia-se mais alto que a Andreza, ao ver o dia raiando sob o derradeiro som da flauta a espalhar-se pelos campos. Adormeceu com o cheiro e as vozes das moças cobrindo-lhe o sono.
[381] Ao regressar, mais cedo que pensava, major Alberto com o bilhete de Amélia enfiado entre os dedos, dava rápidas e raivosas passadas no chalé inteiro, como se quisesse andar nas paredes, subir no telhado, desabafar-se com os camundongos e seguir numa lancha para trazer a companheira pelos cabelos Lá de Belém, onde ela foi despedir do irmão.
— Maluca. Dando por lá os seus espetáculos. Degradante.
Espiava à porta da cozinha. Era a Inocência, pesada, sobre as panelas, o perfil cor de barro, índia. Saía para a Intendência carregado de suposições e suspeitas. A ausência de Amélia em Muaná [381] tivera um acréscimo amargo.
— Então fique-se por lá. Fique-se. Aqui não me entra mais. Ah, não me entra...
Abria o catálogo, procurava as chinelas como se procurasse Amélia. Minu tinha o focinho erguido para ele, úmido de solidariedade.
Alfredo, ao vê-lo, instintivamente riu. Refugiou-se no tanque que transbordava de gado, ou seja, de caroços de tucumã e de inajá. O pai se danava, mas a viagem era quase certa. A mãe, aproveitando a partida do irmão, fora a Belém arranjar casa onde pudesse deixá-lo. Partiria. Belém, enfim. Belém! A lancha defronte, apitando Beleeém... Adeus, Folha Miúda. Adeus, cemitérios. Adeus, ilustre pai.
Subia ao chalé, saltava sobre as costas de Inocência escorregando aos trancos pelas maçãs da bunda que o atirava ao chão. De volta, na carreira, suspendia-lhe a saia saindo para o quintal: eu vi, eu vi. E Inocência com a boca em bico: xô, xô, gavião, xô! Assim o encontrou Andreza. Ele foi se escoando entre as estacas da horta e o olhar dela em cima, inevitável.
Andreza deixou-o para ver o Major a embalar-se sombriamente na saleta, vago e arrepiado na varanda, atento ao apito das lanchas. Por vingança ou por cuidado, as duas coisas juntas, Andreza correu para o menino, perguntando-lhe:
— E tua mãe? Não volta mais?
Foi então que, repelindo a ofensa, Alfredo sentiu que a sua mãe demorava.
Passaram os dias, barcos e lanchas saindo e chegando sem ela. Uma tarde, sabendo que Alfredo se metera na despensa, Andreza foi à cozinha e disse alto para ele ouvir:
— Ah, pensei que Alfredo estivesse. Gosto tanto dele, Inocência, tu pensa..
E logo dando a entender que Inocência lhe respondia ao ouvido ou falava muito baixo, continuou:
— E certo que a mãe dele não volta mais? Hein? Fala mais alto. Agora és tu que estás tomando conta da casa? Ah, é? Pode falar que ninguém está ouvindo. Ah, é? O que está me dizendo...
[382] — Não estou te dizendo nada, sua demoninha. Xô, saracura do lago.
Inocência expulsou-a, mas Alfredo surgiu batendo o pé para a cabocla.
Daí em diante deixava de falar com Inocência e permitia que Andreza continuasse a sentar a seu Lado na ponte já armada do chalé para o aterro.
Mas, uma noite, ansioso, sem sono, atraiu-o uma conversa entre o pai e Leônidas que falavam baixo, debruçados numa das janelas do chalé. O assunto tinha intervalos, Major chamava a atenção do sobrinho para esta e aquela estrela, para as Três Marias e descobria afinal a posição do Cruzeiro. Leônidas temperava sucessivamente a garganta. O menino ouviu do pai isto, entre pausas e rodeios:
— É. Foi isso. Naquele estado... Sabe-se lá... Pegou-se lá com um... Você sabe... Tem lá umas primas. Pegou-se, psiu... e... E lá se foi.
Leônidas confirmava o descobrimento do Cruzeiro. Era, era o Cruzeiro. E o “Lá se foi” ecoava numeroso dentro do menino, ricocheteava no soalho e no telhado. Lá se foi.
Recolheu-se ao quarto, a ferida da perna doía-lhe como a do seu peito, invisível e crescente. Leônidas não confirmava a posição do Cruzeiro, mas as palavras do pai.
As grandes chuvas desabaram.
Começou a ver o pai afundado na rede, corcovado, a caminho da Intendência. Tinha de ir sempre buscar, em companhia de Andreza, o quilo de carne no mercado. O tijuco do aterro segurava nos pés que vinham calçados nele. Andreza nadava nas valas cheias. De uma delas, uma tarde, saiu nua porque um moleque lhe arrancara o vestido puído, desfeito em pedaços. Alfredo atirou-lhe da janela um camisão de Mariinha. Ela tirava-lhe o tijuco grosso dos pés, mas falando: e tua mãe? Dá cá o outro pé. E tua mãe? Que fim levou? Que tu fizeste com a Inocência pra dizer “eu vi, eu vi” e depois ficar mal com ela?
Alfredo bateu-lhe com o pé e gritou: suspendi a saia dela, como vou suspender a tua.
[383] Andreza escapou na corrente da vala, a vala descia para o rio, o rio que levava a Belém.
— Seu péssimo, seu péssimo. Vou contar pro meu tio.
Ele atrás, na beira da vala, ela adiante, tropeçando ou mergulhando.
— Teu tio? Coitado. Com a barriga entre as pernas? Compra uma vela pra ele.
— Mas tua mãe foi embora. Ela bebe. Tua mãe fugiu com um homem. Fiau pro teu pai e pra ti, menino órfão de mãe viva!
Com um galho de algodoeiro brabo, enxotava-a da vala para o rio, os redemoinhos da correnteza faziam girar as canaranas. A vala espraiou-se e entrou no rio, levando a menina que avançou para um pau de bubuia. Este rolou, liso, fugindo às mãozinhas já aflitas e aí gritou Alfredo para uma montaria parada lá adiante. Era o Didico, que a pescou.
Sem dizer nada um para o outro, choravam então ambos a ausência de d. Amélia e foi aos abraços e aos pulos, no teso da beirada, que viram, um domingo, passar a “Guilherme” com muitos barcos a reboque cheios de velas alçadas secando ao sol, mastaréus, bandeirinhas, passageiros sobre os toldos e junto a um mastro, sozinha, a mãe que acenava para eles dois.
Viram depois o Major, o rosto que nem cal, rápido e tremulamente, abraçá-la e beijá-la em ambas as faces. O pretume dela, naquele instante, esvaía-se de surpresa e susto. E mal refeita das demonstrações, despindo-se ainda no quarto, chamou o filho, fechou a porta, disse, baixo e firme:
— Você vai.
Durante o dia da partida, na hora do embarque à noite, procurou Andreza nos algodoais, ao pé das valas, sob os soalhos, no casarão do coronel Bernardo, na padaria junto ao forno, atrás do reino das formigas, no pardieiro onde o tio gemia sob as moscas. Cadê Andreza?
Seu pai o abençoou sem palavras, dois dedos brancos e breves roçaram-lhe os lábios. Que vontade de abraçá-lo, por que não lhe [384] dizia nada, nem um conselho? O coração subia e descia, mas Andreza?
Chegaram ao trapiche sob o chuvisco. Seria mesmo a partida? Achou-a agora demasiadamente fácil, inesperada, diferente, diferente do que imaginava. Faltava-lhe o encanto da fuga, a outra viagem continuaria nele para que fosse um dia realizada.
À frente, levado pela Inocência, o velho candeeiro de quem saiu o fogo que queimou Mariinha. Esperava embarcar como um passarinho solto e o coração se fechava em uns quantos sentimentos novos e informes, na sensação de que o chalé ia dentro, consigo, e ao mesmo tempo o via afogado na enchente de abril. Mas Andreza?
Ela lhe dissera, na véspera, por pura brincadeira, que mandaria tocar os sinos. Primeiro, dobrando de saudade, depois, imitando o nome Belém.
Teria ido tocar os sinos? Seria capaz de tudo. Mas os sinos não tocavam. Talvez estivessem tocando, não podia ouvir por causa do misterioso rumor que há sempre em nós quando partimos. Tudo adiante era escuro, pegajoso, nem a faísca de um cigarro. Então as tochas que descobriram Lucíola, no campo, invadiram-lhe a consciência, medo de Lucíola. Lucíola seguiria Andreza, esta de pés grudados no tijuco, não poderia caminhar mais.
Apalpou no bolsinho a oração que a Inocência lhe dera, ao fazerem as pazes. Esperando o barco desatracar e enquanto a mãe dava as últimas recomendações à Inocência, entrou na camarinha e à luz do farol foi decifrando a rude letra no pedaço de papel de embrulho:
“Oração da força do credo, meu amantíssimo Jesus eu vos ofereço este Credo que rezei na tensão de nossa Senhora do Desterro para desterrá tudos os inimigo
pra que me alivre da ponta de faca
da boca da espingarda
de tudos instrumento cortante e perfurante
[385] de tudos Malefissio
de morrer afogado;
da boca da espingarda
de tudos instrumento cortante e perfurante
[385] de tudos Malefissio
de morrer afogado;
Nosso sinhor Jesus Cristo no riu Jordão sarvou são Pedro. Na Barca de Noé eu me tranco eu me fecho nosso sinhor Jesus me acumpanhe na Vida e na morte e com treis palavra eu me benzo.”
Quando acabou, o barco descia. Afoito, subiu, sem respiração. Mas Andreza? No rio Jordão na barca de Noé. Eu me tranco eu me fecho.
Não precisava lançar os longos remos nem empurrar a vara, o barco descia na correnteza, ansioso de levá-lo. Caboclos, imóveis sobre o rolo dos cabos, coziam o barro dos peitos nus ao fogo da trempe que estalava na proa. D. Amélia recolhera-se à camarinha.
Alfredo pisou em cima do toldo, equilibrou-se na verga, a oração soltou-se dos dedos e voou para a correnteza. Apoiou-se nos cabos da vela, os pés dobraram, flexíveis — estaria alguém nas janelas do chalé? Seu pai, Mariinha, a cachorra com as patas no peitoril? E Andreza, meu Deus!
A face do chalé então alvejou num instante, a Folha Miúda abriu as asas dos grandes galhos, como um pássaro em que o rio se enroscou, elástico e oleoso. Mas ao ranger do leme, o barco dobrou, e o estirão atrás cobriu o chalé, a oração, Andreza tocando os sinos.
Algumas horas depois, estava o “São Pedro” saindo na baía. Alfredo estremeceu, a ouvir o diferente rumor das águas e aquele ar noturno e misterioso que encheu a vela. Atrás, fechando o rio, a sombra do mato.
Mas logo desabou a trovoada.
O barco subiu na vaga, como que rodopiou, abalroado, O rabo da onda apanhou o toldo, cobriu o piloto. Foi quando se ouviu o grito, que pareceu distante: um passageiro havia caído no banzeiro. Alfredo escutou a mãe gritar fora da camarinha. O [386] loto manobrou o barco, a vela debatia-se à luz do farol suspenso sobre as águas.
— O cabo. Joga o pneu. Lá está.
Alfredo espiou pela portinhola da camarinha na popa. Na escuridão, agarrado ao leme, o piloto manobrava. Alguém gritava lá fora. O barco saltava na goela de onda enorme. Alguém na ponta da onda, agarrara o cabo, o pneu, a borda do barco e subia no bailéu da popa, meio desacordado. Começava a chover.
Vendo o passageiro salvo, Alfredo, no seu alívio, sentia-se também como restituído à vida. O rapaz era do Lago Arari, tocador de cavaquinho, viajando para Belém. Queria ser fundidor, dissera a Alfredo, poucas horas antes e sempre a tocar o cavaquinho. D. Amélia abria na camarinha o baú do rapaz a fim de lhe dar um calção. Perguntava-lhe se estava batido, se engolira muita água. Mas o mau tempo, com trovão e raio, não permitiu mais perguntas, conversa nenhuma, tratava-se de atravessar a baía sob a chuva naquelas trevas em que a trovoada desabava.
O menino foi se lembrando da oração que Inocência lhe dera. Oração da força do Credo. Nossa Senhora do Desterro. Por que deixara cair no rio a oração? Por que não tivera mais fé naquelas palavras, naqueles garranchos a lápis que assumiam agora tom profético?
“Pra que me alivre da ponta de faca”...
O vento varria a memória. “Pra que me alivre dos malefício”... Depois. Ah... “Eu me tranco, eu me fecho. Nosso Senhor Jesus Cristo no rio Jordão salvou São Pedro”.
Contra o mau tempo, contra o medo, estava no menino o orgulho de chegar a Belém e por isso lutava. Deu-lhe o impulso de sair da camarinha e saltar entre os tripulantes e ajudá-los a afrouxar ou encurtar a bujarrona, virar a vela, esgotar o porão, sentir no rosto o vento, chuva, treva, raio. Mas ao clarão do relâmpago e em meio do estrondo, sua mãe gritou:
— Alfredo!
Voz rápida, sumária, inapelável. D. Amélia com aquele grito parecia comandar o barco, decidida, pelo filho, a esmagarem suas mãos a trovoada. Alfredo, recuando, sentiu-lhe o braço úmido e [387] quente que o deteve. Minutos depois, a lembrança da oração. Jordão era aquele mar retinto, de carvão e cólera. Ali, na baía de Marajó, Cristo não aparecia. Vinham, lentas, palavras da oração: “... para me desterrar de todos os inimigos. De todos os malefícios, de morrer...
Não precisava lançar os longos remos nem empurrar a vara, o barco descia na correnteza, ansioso de levá-lo. Caboclos, imóveis sobre o rolo dos cabos, coziam o barro dos peitos nus ao fogo da trempe que estalava na proa. D. Amélia recolhera-se à camarinha.
Alfredo pisou em cima do toldo, equilibrou-se na verga, a oração soltou-se dos dedos e voou para a correnteza. Apoiou-se nos cabos da vela, os pés dobraram, flexíveis — estaria alguém nas janelas do chalé? Seu pai, Mariinha, a cachorra com as patas no peitoril? E Andreza, meu Deus!
A face do chalé então alvejou num instante, a Folha Miúda abriu as asas dos grandes galhos, como um pássaro em que o rio se enroscou, elástico e oleoso. Mas ao ranger do leme, o barco dobrou, e o estirão atrás cobriu o chalé, a oração, Andreza tocando os sinos.
Algumas horas depois, estava o “São Pedro” saindo na baía. Alfredo estremeceu, a ouvir o diferente rumor das águas e aquele ar noturno e misterioso que encheu a vela. Atrás, fechando o rio, a sombra do mato.
Mas logo desabou a trovoada.
O barco subiu na vaga, como que rodopiou, abalroado, O rabo da onda apanhou o toldo, cobriu o piloto. Foi quando se ouviu o grito, que pareceu distante: um passageiro havia caído no banzeiro. Alfredo escutou a mãe gritar fora da camarinha. O [386] loto manobrou o barco, a vela debatia-se à luz do farol suspenso sobre as águas.
— O cabo. Joga o pneu. Lá está.
Alfredo espiou pela portinhola da camarinha na popa. Na escuridão, agarrado ao leme, o piloto manobrava. Alguém gritava lá fora. O barco saltava na goela de onda enorme. Alguém na ponta da onda, agarrara o cabo, o pneu, a borda do barco e subia no bailéu da popa, meio desacordado. Começava a chover.
Vendo o passageiro salvo, Alfredo, no seu alívio, sentia-se também como restituído à vida. O rapaz era do Lago Arari, tocador de cavaquinho, viajando para Belém. Queria ser fundidor, dissera a Alfredo, poucas horas antes e sempre a tocar o cavaquinho. D. Amélia abria na camarinha o baú do rapaz a fim de lhe dar um calção. Perguntava-lhe se estava batido, se engolira muita água. Mas o mau tempo, com trovão e raio, não permitiu mais perguntas, conversa nenhuma, tratava-se de atravessar a baía sob a chuva naquelas trevas em que a trovoada desabava.
O menino foi se lembrando da oração que Inocência lhe dera. Oração da força do Credo. Nossa Senhora do Desterro. Por que deixara cair no rio a oração? Por que não tivera mais fé naquelas palavras, naqueles garranchos a lápis que assumiam agora tom profético?
“Pra que me alivre da ponta de faca”...
O vento varria a memória. “Pra que me alivre dos malefício”... Depois. Ah... “Eu me tranco, eu me fecho. Nosso Senhor Jesus Cristo no rio Jordão salvou São Pedro”.
Contra o mau tempo, contra o medo, estava no menino o orgulho de chegar a Belém e por isso lutava. Deu-lhe o impulso de sair da camarinha e saltar entre os tripulantes e ajudá-los a afrouxar ou encurtar a bujarrona, virar a vela, esgotar o porão, sentir no rosto o vento, chuva, treva, raio. Mas ao clarão do relâmpago e em meio do estrondo, sua mãe gritou:
— Alfredo!
Voz rápida, sumária, inapelável. D. Amélia com aquele grito parecia comandar o barco, decidida, pelo filho, a esmagarem suas mãos a trovoada. Alfredo, recuando, sentiu-lhe o braço úmido e [387] quente que o deteve. Minutos depois, a lembrança da oração. Jordão era aquele mar retinto, de carvão e cólera. Ali, na baía de Marajó, Cristo não aparecia. Vinham, lentas, palavras da oração: “... para me desterrar de todos os inimigos. De todos os malefícios, de morrer...
“DE MORRER AFOGADO”
“Na barca de Noé, eu me tranco”. Na camarinha, trancada e fechada, Alfredo, sem oração, revia o rosto de barro de Inocência rezando. Senhora do Desterro. O fantasma de Lucíola lhe arrebatara a oração. Soprava o mau tempo para o barco virar. Ou foi praga de Andreza?
Alfredo não queria que sua mãe o visse naquele terror absoluto. Corriam brados de popa à proa, por isso o barco assumia imensas proporções, como se imitasse, no tamanho, o medo dos homens. Alfredo tremia um pouco.
Um farol inclinou-se para o caos, o que pareceu multiplicar as ondas contra a embarcação, que avançava sempre, bordejando. Outras ondas assaltavam-na, a verga mordia o mastro que parecia estalar. Ao largo, passou um barco, quase indistinto. Trocaram-se gritos que o vento confundia e levava.
Para vencer o medo, o menino tentava fazer de conta que via o clarão de Belém, ouvia o ruído da cidade agora arremessada para mais longe, no escuro, separada pelo vento, mares e relâmpagos.
Por um instante, os sinos de Andreza também ressoaram na água chocalhando dentro do barco, na moringa, amarrada na marinha, que sacolejava gemendo como uma fonte. Sabendo que essa água da moringa era do poço do cata-vento, Alfredo teve, de súbito, a visão de Cachoeira, as últimas tardes do cata-vento rodando. Na paz do rio, as histórias de Andreza; longe, iluminado nos campos, o baile imaginário de Mãe Maria; a segurança do chalé com os esteios bem fincados, o gosto tão cômodo de chapinhar no tijuco tão macio, e a aventura, que não fez — como o faria agora! — de subir à torre da igreja, em companhia de Andreza e tocar os sinos. Ela descalça — os pés no chão e não num barco! [388] — estaria, ainda, naquela hora, andando pelos campos, menina matintaperera. Nos últimos dias, Andreza lhe falava: já que tu vais te embora, vou virar matinta. Assobiava, tão engraçado, que tudo ela poderia ser, menos matinta. Será que nunca, nunca, há de rever Andreza? Andreza e o tanque, o chão que não se movia, o vento que entrava pelas janelas e não levava ninguém para o fundo. A própria morte de Lucíola, como a desaparição de Edmundo, fazia parte daquela paz que o mau tempo arrancava do coração do menino.
Para fugir àqueles gritos dos tripulantes, ao assalto cada vez mais repetido das ondas, Alfredo, à luz do pequeno farol da camarinha, pôs-se a ler alguns jornais velhos encontrados entre as encomendas não entregues a seus donos em Cachoeira, velho costume dos pilotos. Ah, quando chegavam jornais em Cachoeira! Que agonia, agora, ao ler aqueles telegramas velhos da Europa. “Lisboa, um grande ciclone desabou sobre a África Oriental Portuguesa, destruindo a aldeia de Chinde”.
Ciclone? Foi a indagação do menino. Mas ciclone? Diante da trovoadinha marajoara, que pequenino e frágil era o devastador ciclone tão distante. “Explodiram no porto de Gaia bombas de dinamite lançadas por operários da construção civil. A chalupa “Maria Teresa” afundou-se no lago Perltand, morrendo quinze pessoas. O número de mortos e feridos, devido ao ciclone, é por toda a parte muito elevado. O mar está extraordinariamente agitado”. “Lisboa, esta madrugada, foram atiradas contra um elétrico três bombas de dinamite”.
Diante do presente turbilhão, como era inofensivo e morto aquele noticiário. Mas como lhe dava calma! Aqui o mar arrebentava na proa e na popa os seus vagalhões de pedra. Apagava as vozes, o urro das oito vacas que o “São Pedro” conduzia, transformava tripulantes e passageiros em espectros vagando no bojo da embarcação. Cega e ferida embarcação no bojo da trovoada.
À porta do toldo, sereno, o perfil da mãe. Sempre ela, negra e silenciosa. Perfil confiante, por isso mesmo belo como o de uma mulher imaginada. E atrás da camarinha, reteso e mudo no bailéu, o piloto fintava as ondas, enfiando o barco por entre [389] gargantas vertiginosas, vorazes e fundas, para sair adiante, viscoso e escorregadio. Grande, inclinada e tesa, a vela, como a asa do barco era como o perfil de d. Amélia projetado no espaço escuro. O barco dobrou, o pano bateu, pesado, gotejante, e passou, cabos retesaram-se, a cana do leme rangeu como se fosse o piloto gemendo. Tripulantes tiravam água do porão.
— Está fazendo água, Catumbi.
Alfredo via o barco estalar e abrir-se. Catumbi deu uma ordem. Aquele feixe de madeira, cabos, cargas, reses, tripulantes e passageiros concentrava-se na mão de Catumbi que o brandia como um bastão contra a trovoada. Abria um túnel na montanha das vagas por onde o “São Pedro”, esburacado e podre, deslizava.
— Esgotem, esgotem a água.
O piloto aplicava ali o seu dom, a velha experiência de vinte anos, olhar na proa, perna esticada, atento às ciladas da onda, narinas abertas farejando horizontes. Ágil, astucioso, sutil como índio na selva, fundia-se na escuridão e na tormenta, mãos e pés atados a cana do leme e aos cabos, como se fossem peças da embarcação.
— Mamãe, mamãe.
— Durma. Já passou tudo. Ainda não vai amanhecer.
— Não trouxe o livro... Quem sabe se Andreza não escondeu?
— Aproveite o sono, que ainda não vai amanhecer.
— Já entramos no rio? Inda está muito longe?
— O quê?
Sua mãe sabia o que era. Ele hesitou em responder, em soltar o nome amado, como se ao soltá-lo temesse que a cidade se lhe escapasse para sempre das mãos.
— Quando amanhecer você avista. Mas durmazinho um pouco.
— Mas, mamãe, atravessamos?
— En, en.
Resposta de quem acalenta e adormece no próprio acalanto. A mãe falava tão se distanciando dele! Não era no barco que ela estava. Mas à janela do chalé a pensar no filho que a cidade lhe arrebataria para sempre.
— Mas, mamãe, como...
— Oh, meu filho, estou cansada. Não fale agora. Durma mais [391] um pouquinho.
— Mas estão conversando lá fora.
— Quando amanhecer você conversa. Me deixe dar só um cochilo. Durma.
Barco parado, de velas arriadas.
Quando amanhecer será a cidade? Belém?
Alfredo ergueu a cabeça para ver a mãe deitada na esteira. A luz do candeeiro via-lhe a mão escura, no pé, as unhas luziam. O cheiro das reses na estiva invadia a camarinha. Alfredo arrastou-se, roçou as pernas na mãe, encolheu-se, escutando a conversação:
— Mas nem uma estrela, hein? A baía velha ainda ronca.
— Ah, seu compadre, a baía meteu “óleo” esta noite, ficou braba.
Grossa e baixa, entrava a voz no toldo como do fundo da maré que subia.
— Te espreguiça, corpo morto. Espicha as molas.
Alguém foi sacudido no rolo do velame.
— Ei, cunhado, ei, seu morto. Se acorde pra me dá um mata-rato dos seus.
O cigarro relumeou. Uma vaca mugiu. Alfredo adormeceu, de novo.
Despertou, estonteado, e rápido saltou para cima do toldo:
— Mamãe, mamãe, venha ver. Venha. Quantas! Mas quantas!
Era como se o dia houvesse clareado por efeito de dezenas de velas azuis, pardas, brancas e vermelhas que pousavam à foz do Carnapijó.
Não avistava Belém, como sua mãe lhe prometera.
Ao nascente, na claridade que polia o azul sobre o mato, o furo da Mucura, a boca do Arapiranga de onde se desatavam as velas para a baía. Perto, num baixio, as águas fazendo espuma afinavam seus instrumentos.
À proa, um tripulante preparava café no fogão de lata junto da bujarrona enrolada. Estendido na popa, o piloto chupava a bagana e Alfredo o contemplou alguns instantes. Que força e fôlego o Catumbi, pequeno e destro, sustentando, com seus punhos e a sua sagacidade, o barco “São Pedro”, subjugando a baía. Não [391] havia nele um só traço da fascinação e do terror que se apoderaram do menino. Nem fadiga em seus olhos escassos, em que a escuridão da noite se recolhera, domada. Na beira do toldo, os braços descansavam, aqueles punhos e era como se tivesse acendido o cigarro na faisca dos relâmpagos. Ali estava o Catumbi, conhecia as águas, seus humores, manhas, histórias, o que havia de real e fabuloso em toda aquela extensão que inundava as lonjuras. O piloto cuspiu, como se cuspisse na trovoada morta. Alfredo, então, se lembrou: aonde andava Danilo, embarcado no “São João”?
A madrugada levava-lhe ressentimentos e inquietudes, vestindo-o da inocência e ambição com que queria encontrar e conquistar Belém, ver o mundo que os matos e as nuvens escondiam teimosamente. Através daqueles cachos de nuvens desenhavam-se ruas, colégios e residências, estava na avenida Gentil Bittencourt, a casa numero 160 onde se hospedaria.
D. Amélia deslizou a mão pelo ombro dele, pela cabeça e quis que o cochilo do menino fosse forte, sono, mas sono grande.
— Não quero dormir mais. Nem tive medo.
— Mas quem lhe perguntou se teve medo?
A mãe sorria. Alfredo guardava entre os ecos da trovoada, o escachôo da água dentro do barco, o plingue-plingue da moringa, o farol sobre o caos em busca do jovem do Lago. Deitou-se na esteira da camarinha com a sensação de que ganhara algo de mais ansioso e secreto, mais forte que a oração e o medo. Lembrava as poucas palavras do jovem desconhecido, escapou de morrer afogado. Também havia no rapaz a sede da cidade desconhecida. Aquele caboclinho, ia ser operário, dava a Alfredo a sensação mesma da juventude, dos riscos que atravessa e dos poderes que tem. Era uma noção imprecisa, quase insubsistente, de já ter deixado de ser menino ou a idéia de que o perigo havia tornado mais preciosa e mais sua a Belém que buscava.
E que bom reviver as horas do medo, com a lástima de não ter sabido ficar à porta do toldo, sem leitura de jornais, ao lado da mãe. Agora estaria ouvindo dos tripulantes:
— Não falta nada para um homem.
[392] Um homem.
Mas eles, agora, lhe perguntavam maliciosamente:
— Então, quedê o quebra pote?
Sim, ele perguntava entre dois telegramas para fora do toldo: Já passamos do quebra pote? A passagem pelo quebra pote era o que mais temia. Nesse trecho, à entrada do rio Cutijuba, já depois de atravessar a baia, o barulho das vagas picando miúdo e com fúria dava a impressão de que quebravam potes. Uma canoa carregada de bilhas, panelas de barro, 18 frasqueiras de cachaça e 40 potes de mel, havia ali naufragado. E até hoje as águas, bêbadas, quebravam potes que não acabavam nunca, rolando pela espuma, na correnteza, no fundo e nos pedrais. Alfredo sabia que no quebra pote naufragara também uma canoa do Araquiçauá, o filho do Raimundo Reis, parente de sua mãe, se afogara. Diante do quebra pote, o farol de Cutijuba. Muitas vezes iluminara rostos de gente aos gritos se afogando, proas emborcando, quilhas viradas, mãos no último espasmo, mastros partidos entre bilhas e potes que as águas quebravam no caldeirão.
O barco, porém, não passara pelo quebra pote. Alfredo sentiu-se lesado ao saber disso. Quarenta potes de mel. Quarenta potes de mel. Ouvia a risada do tripulante e o barco deu um balanço longo. Subiam do fundo da moringa os sinos de Andreza.
Meia hora depois, acordou à porta de uma daquelas histórias que Lucíola lhe contava havia tanto tempo. Era bem curioso aquilo. Cuidava também escutar aquela flauta do baile do chalé, no céu e terra amanhecendo. Na boca verde do rio, antes invisível, as águas nasciam pela primeira vez. Pelos contornos da paisagem, um azul quase violeta com manchas de névoa escura e brilhos foscos. Franjas luminosas infiltravam-se pelos arvoredos marginais, salpicando a maré.
Em breve, das nuvens desceria Belém, a sombra da cidade espalhava-se pela baía, recortava-se nas restingas; nos mil e um espelhos da onda e da espuma, casas e barcos se miravam, irreconhecíveis e inconstantes, visão de Belém tão dispersa e vária quanto concentrada e fixa no coração do menino.
Acendendo as suas achas no fogo oculto, o nascente se [393] debruçava sobre a selva. Brotos aqui e ali, acesos, pareciam estender suas palmas e cachos ao ranger das velas e ao alçar das ancoras. E em tudo isso, de repente, irrompiam, para a imaginação de Alfredo, as luzes de Belém e o olhar de Andreza, de pestanas vermelhas.
— Maré já deu.
Era a voz do piloto, como se a própria água tivesse falado, voz remota, desconhecida, depurada pela tormenta da noite. O hálito da maré enchendo dava em Alfredo uma quase angustiosa impaciência de chegar. Todos os tripulantes, nos barcos, canoas e igarités, ergueram os cabos para puxar as velas. Em torno dos mastros, cheios da luz que enchia como a maré, pareciam feiticeiros.
Na onda da luz e da sombra, fugiam os bichos que levaram a noite inteira sacudindo a baía. E logo correu um estremecimento, era o sol que se empoleirou na mataria das ilhas como um galo, sacudindo a crista e as asas sobre as palmeiras. E seu canto se espalhou, lambeu os peitos, queimou as nuvens e aqueceu as “elas. Sol de Belém. O canto se multiplicou pelos sítios próximos naqueles ecos que eram os tristes e invisíveis galos da terra, cantando.
E se fez tão irreal o instante que o menino chegava a imaginar os canoeiros como foliões do Divino, na cerimônia de sus. pender as velas ao som da reza e dos tambores dentro d’água. Diante do barco, a curicaca de velhinha enrolada. Na tolda, uma mulher tinha a graça das caboclas de sono e fadiga quando voltam pelo rio de uma festa de três dias. À proporção que o dia raiava, só a mulher parecia murchar, o olhar no rio em busca da noite perdida, da festa para sempre acabada.
A vela, ao sacudir-se, saudou o sol e o menino ouviu o soluço das enxárcias e as outras velas vizinhas com sua palpitação de asas cativas. Ouvia-lhes a voz sufocada e retesa no temporal, o seu duro bater na escuridão. Pesadas e barrentas as águas arquejavam, era já a noite ressonando lá no fundo.
A mulher, flor que só abre à noite e murcha ao raiar do dia, alisava o pescoço, o cabelo desenrolado, a ponta de uma fita no colo, o olhar no rio. Alfredo banhava-se na claridade. Seriam sempre assim as manhãs de Belém?
[394] Balançou a cabeça. Por que a mulher não tirava os olhos do rio? Via, agora, só agora via, que os tripulantes do “São Pedro” estavam esgotados, sonolentos.
Mas era preciso olhar para a foz do Carnapijó, abrigo das embarcações. As velas deixavam a foz, voando para a baía, lentas e indecisas, com o vagar das garças e das noivas, como se não soubessem que rumo tomar. Vermelhas, azuis, claras, pardas e escuras, inchavam as velas ao vento como borboletas grandes saindo da floresta. E o rio, por isso, no seu coleio, lambia, satisfeito, os pedrais, a areia, quilhas e cacuris das margens. E nele, refletido, vagando como uma semente, o olhar da mulher da curicaca.
— Sobe o pano.
Aí a cabocla se levantou e ajudou o piloto, na curicaca, a levantar o pano. A canoinha de pano solto, foi rompendo as maretas. Proas de pedra, curvas de areia, pontas de ilhas. Marajó se espreguiçava na neblina, onde agora, tão misterioso, o chalé se confundia com a sepultura de Mariinha, com o corpo de Lucíola, grande, no campo orvalhado. Onde desembocavam os rios marajoaras, pois se o mato era apenas mancha e sereno na lonjura?
E a saudade do menino entrava pelas janelas da varanda, olhava o pai junto do prelinho francês — sim, já devia estar acordado — examinando os rolos ou tentando ver na meia luz do amanhecer um catálogo novo.
À beira das miúdas enseadas, pescadores armavam tapagem ou gamboa para pegar tainha. Um pedral espumava na enchente.
— Parece um lote de búfalos n’água, disse um tripulante.
Ao sol os miritizeiros cacheavam.
Alfredo tomou o café, olhando a curicaca. De pé, recostada ao mastrinho, a cabocla enrolava o cabelo, vagarosa, a olhar novamente o rio. A canoinha corria que nem ave apanhando peixe.
No Carnapijó, as velas desabrochavam e era de se esperar que todas essas canoas, barcos e curicacas fossem levar a felicidade para o mundo.
Alfredo via na curicaca já distante a cabeça da mulher prendida sobre o rio. E como um clamor, ecos ressoavam na mataria [395] adentro. Alfredo sentia-se inquieto novamente. Aquelas vozes e ecos da terra geral, tiros e latidos, entravam soturnos e gelados em sua ansiedade.
— Olha o farol, disse o piloto ao menino.
Alfredo se encheu de orgulho, o piloto lhe falara.
— Viu, mamãe?
— En, en, respondeu ela, cabelo levemente úmido da madrugada, enxugando as mãos na saia. E Alfredo se voltou para o poente, viu as velas povoando a baía, dirigindo-se para Marajó num silencioso vôo de migração. O sol crescia, a baía se incendiava, um navio entrava no Arrozal com a nódoa esparsa do fumo. A água ao longe tinha um azul de grande mar, escamado de sol. Da mata comum, sobre as imbaubeiras, mangues e palhoças, as samaumeiras erguiam as copas muito alto para colher das nuvens a luz que se derramava.
O barco seguia viagem. Alfredo, coração miudinho, não via ainda a cidade. O barco entrava por furos, rios, matas, era saudado por velhas casas, coqueiros e trapiches. Num barranco, em pleno tempo, Nossa Senhora da Boa Viagem lhe dava bons dias. Os navegantes contavam lendas da santa. Tinha a face voltada para a baía. Nunca permitia que a levassem para uma igreja. Preferia ficar ali no rude barranco, batido de vento, olhando a navegação. Alfredo ouviu a mãe contar a lenda. A imagem, branca sobre o barranco escuro, parecia acenar-lhe. Diante dela, a baía, os caminhos do oceano, os ninhos da trovoada.
O barco se arrastava como numa solidão. Até que a uma volta do rio, se pudesse ver, lá no fundo, qualquer coisa espessa e parda, logo o desenho da caixa d’água, torres, chaminés de gaiolas, a primeira bóia do canal, as alvarengas. Como Alfredo invejava os passageiros daquele navio que tão velozmente se aproximava do porto. Por que estava tão inquieto e confusas recordações lhe assaltavam o coração? Talvez fosse o peso da alegria e do orgulho de chegar, tão bom que já lhe doía. Prometera manter-se calmo, achando que era a coisa mais natural do mundo chegar a Belém, não passar nunca por matuto, fazendo crer, isto sim, que era habituado à cidade. Feliz e cheio de temores, doendo-lhe o desejo [396] de logo chegar e ao mesmo de retardar a chegada, assobiava não para chamar o vento, como faziam os tripulantes, mas para enxotá-lo. E lembrou, com desapontamento que o barco teria de ir antes ao Curro levar a pobre carga das oito vacas tão ali pobrezinhas, como restos de um rebanho perdido num naufrágio.
Mas respirava o ar da manhã, ar da cidade, sinos, apitos, bondes, buzinas, campainhas do colégio. Avenida Gentil Bittencourt, 160. O cheiro de Belém era mesmo aquele que parecia sufocá-lo?
A mãe lhe sorria, quieta como a fidelidade. Alfredo tocou-lhe o ombro e nele inclinou o rosto. Ah, se a sua querida mãe voltasse a sorrir como agora sorria, tranqüila como estava naquela manhã da chegada a Belém.
Alfredo não queria que sua mãe o visse naquele terror absoluto. Corriam brados de popa à proa, por isso o barco assumia imensas proporções, como se imitasse, no tamanho, o medo dos homens. Alfredo tremia um pouco.
Um farol inclinou-se para o caos, o que pareceu multiplicar as ondas contra a embarcação, que avançava sempre, bordejando. Outras ondas assaltavam-na, a verga mordia o mastro que parecia estalar. Ao largo, passou um barco, quase indistinto. Trocaram-se gritos que o vento confundia e levava.
Para vencer o medo, o menino tentava fazer de conta que via o clarão de Belém, ouvia o ruído da cidade agora arremessada para mais longe, no escuro, separada pelo vento, mares e relâmpagos.
Por um instante, os sinos de Andreza também ressoaram na água chocalhando dentro do barco, na moringa, amarrada na marinha, que sacolejava gemendo como uma fonte. Sabendo que essa água da moringa era do poço do cata-vento, Alfredo teve, de súbito, a visão de Cachoeira, as últimas tardes do cata-vento rodando. Na paz do rio, as histórias de Andreza; longe, iluminado nos campos, o baile imaginário de Mãe Maria; a segurança do chalé com os esteios bem fincados, o gosto tão cômodo de chapinhar no tijuco tão macio, e a aventura, que não fez — como o faria agora! — de subir à torre da igreja, em companhia de Andreza e tocar os sinos. Ela descalça — os pés no chão e não num barco! [388] — estaria, ainda, naquela hora, andando pelos campos, menina matintaperera. Nos últimos dias, Andreza lhe falava: já que tu vais te embora, vou virar matinta. Assobiava, tão engraçado, que tudo ela poderia ser, menos matinta. Será que nunca, nunca, há de rever Andreza? Andreza e o tanque, o chão que não se movia, o vento que entrava pelas janelas e não levava ninguém para o fundo. A própria morte de Lucíola, como a desaparição de Edmundo, fazia parte daquela paz que o mau tempo arrancava do coração do menino.
Para fugir àqueles gritos dos tripulantes, ao assalto cada vez mais repetido das ondas, Alfredo, à luz do pequeno farol da camarinha, pôs-se a ler alguns jornais velhos encontrados entre as encomendas não entregues a seus donos em Cachoeira, velho costume dos pilotos. Ah, quando chegavam jornais em Cachoeira! Que agonia, agora, ao ler aqueles telegramas velhos da Europa. “Lisboa, um grande ciclone desabou sobre a África Oriental Portuguesa, destruindo a aldeia de Chinde”.
Ciclone? Foi a indagação do menino. Mas ciclone? Diante da trovoadinha marajoara, que pequenino e frágil era o devastador ciclone tão distante. “Explodiram no porto de Gaia bombas de dinamite lançadas por operários da construção civil. A chalupa “Maria Teresa” afundou-se no lago Perltand, morrendo quinze pessoas. O número de mortos e feridos, devido ao ciclone, é por toda a parte muito elevado. O mar está extraordinariamente agitado”. “Lisboa, esta madrugada, foram atiradas contra um elétrico três bombas de dinamite”.
Diante do presente turbilhão, como era inofensivo e morto aquele noticiário. Mas como lhe dava calma! Aqui o mar arrebentava na proa e na popa os seus vagalhões de pedra. Apagava as vozes, o urro das oito vacas que o “São Pedro” conduzia, transformava tripulantes e passageiros em espectros vagando no bojo da embarcação. Cega e ferida embarcação no bojo da trovoada.
À porta do toldo, sereno, o perfil da mãe. Sempre ela, negra e silenciosa. Perfil confiante, por isso mesmo belo como o de uma mulher imaginada. E atrás da camarinha, reteso e mudo no bailéu, o piloto fintava as ondas, enfiando o barco por entre [389] gargantas vertiginosas, vorazes e fundas, para sair adiante, viscoso e escorregadio. Grande, inclinada e tesa, a vela, como a asa do barco era como o perfil de d. Amélia projetado no espaço escuro. O barco dobrou, o pano bateu, pesado, gotejante, e passou, cabos retesaram-se, a cana do leme rangeu como se fosse o piloto gemendo. Tripulantes tiravam água do porão.
— Está fazendo água, Catumbi.
Alfredo via o barco estalar e abrir-se. Catumbi deu uma ordem. Aquele feixe de madeira, cabos, cargas, reses, tripulantes e passageiros concentrava-se na mão de Catumbi que o brandia como um bastão contra a trovoada. Abria um túnel na montanha das vagas por onde o “São Pedro”, esburacado e podre, deslizava.
— Esgotem, esgotem a água.
O piloto aplicava ali o seu dom, a velha experiência de vinte anos, olhar na proa, perna esticada, atento às ciladas da onda, narinas abertas farejando horizontes. Ágil, astucioso, sutil como índio na selva, fundia-se na escuridão e na tormenta, mãos e pés atados a cana do leme e aos cabos, como se fossem peças da embarcação.
— Mamãe, mamãe.
— Durma. Já passou tudo. Ainda não vai amanhecer.
— Não trouxe o livro... Quem sabe se Andreza não escondeu?
— Aproveite o sono, que ainda não vai amanhecer.
— Já entramos no rio? Inda está muito longe?
— O quê?
Sua mãe sabia o que era. Ele hesitou em responder, em soltar o nome amado, como se ao soltá-lo temesse que a cidade se lhe escapasse para sempre das mãos.
— Quando amanhecer você avista. Mas durmazinho um pouco.
— Mas, mamãe, atravessamos?
— En, en.
Resposta de quem acalenta e adormece no próprio acalanto. A mãe falava tão se distanciando dele! Não era no barco que ela estava. Mas à janela do chalé a pensar no filho que a cidade lhe arrebataria para sempre.
— Mas, mamãe, como...
— Oh, meu filho, estou cansada. Não fale agora. Durma mais [391] um pouquinho.
— Mas estão conversando lá fora.
— Quando amanhecer você conversa. Me deixe dar só um cochilo. Durma.
Barco parado, de velas arriadas.
Quando amanhecer será a cidade? Belém?
Alfredo ergueu a cabeça para ver a mãe deitada na esteira. A luz do candeeiro via-lhe a mão escura, no pé, as unhas luziam. O cheiro das reses na estiva invadia a camarinha. Alfredo arrastou-se, roçou as pernas na mãe, encolheu-se, escutando a conversação:
— Mas nem uma estrela, hein? A baía velha ainda ronca.
— Ah, seu compadre, a baía meteu “óleo” esta noite, ficou braba.
Grossa e baixa, entrava a voz no toldo como do fundo da maré que subia.
— Te espreguiça, corpo morto. Espicha as molas.
Alguém foi sacudido no rolo do velame.
— Ei, cunhado, ei, seu morto. Se acorde pra me dá um mata-rato dos seus.
O cigarro relumeou. Uma vaca mugiu. Alfredo adormeceu, de novo.
Despertou, estonteado, e rápido saltou para cima do toldo:
— Mamãe, mamãe, venha ver. Venha. Quantas! Mas quantas!
Era como se o dia houvesse clareado por efeito de dezenas de velas azuis, pardas, brancas e vermelhas que pousavam à foz do Carnapijó.
Não avistava Belém, como sua mãe lhe prometera.
Ao nascente, na claridade que polia o azul sobre o mato, o furo da Mucura, a boca do Arapiranga de onde se desatavam as velas para a baía. Perto, num baixio, as águas fazendo espuma afinavam seus instrumentos.
À proa, um tripulante preparava café no fogão de lata junto da bujarrona enrolada. Estendido na popa, o piloto chupava a bagana e Alfredo o contemplou alguns instantes. Que força e fôlego o Catumbi, pequeno e destro, sustentando, com seus punhos e a sua sagacidade, o barco “São Pedro”, subjugando a baía. Não [391] havia nele um só traço da fascinação e do terror que se apoderaram do menino. Nem fadiga em seus olhos escassos, em que a escuridão da noite se recolhera, domada. Na beira do toldo, os braços descansavam, aqueles punhos e era como se tivesse acendido o cigarro na faisca dos relâmpagos. Ali estava o Catumbi, conhecia as águas, seus humores, manhas, histórias, o que havia de real e fabuloso em toda aquela extensão que inundava as lonjuras. O piloto cuspiu, como se cuspisse na trovoada morta. Alfredo, então, se lembrou: aonde andava Danilo, embarcado no “São João”?
A madrugada levava-lhe ressentimentos e inquietudes, vestindo-o da inocência e ambição com que queria encontrar e conquistar Belém, ver o mundo que os matos e as nuvens escondiam teimosamente. Através daqueles cachos de nuvens desenhavam-se ruas, colégios e residências, estava na avenida Gentil Bittencourt, a casa numero 160 onde se hospedaria.
D. Amélia deslizou a mão pelo ombro dele, pela cabeça e quis que o cochilo do menino fosse forte, sono, mas sono grande.
— Não quero dormir mais. Nem tive medo.
— Mas quem lhe perguntou se teve medo?
A mãe sorria. Alfredo guardava entre os ecos da trovoada, o escachôo da água dentro do barco, o plingue-plingue da moringa, o farol sobre o caos em busca do jovem do Lago. Deitou-se na esteira da camarinha com a sensação de que ganhara algo de mais ansioso e secreto, mais forte que a oração e o medo. Lembrava as poucas palavras do jovem desconhecido, escapou de morrer afogado. Também havia no rapaz a sede da cidade desconhecida. Aquele caboclinho, ia ser operário, dava a Alfredo a sensação mesma da juventude, dos riscos que atravessa e dos poderes que tem. Era uma noção imprecisa, quase insubsistente, de já ter deixado de ser menino ou a idéia de que o perigo havia tornado mais preciosa e mais sua a Belém que buscava.
E que bom reviver as horas do medo, com a lástima de não ter sabido ficar à porta do toldo, sem leitura de jornais, ao lado da mãe. Agora estaria ouvindo dos tripulantes:
— Não falta nada para um homem.
[392] Um homem.
Mas eles, agora, lhe perguntavam maliciosamente:
— Então, quedê o quebra pote?
Sim, ele perguntava entre dois telegramas para fora do toldo: Já passamos do quebra pote? A passagem pelo quebra pote era o que mais temia. Nesse trecho, à entrada do rio Cutijuba, já depois de atravessar a baia, o barulho das vagas picando miúdo e com fúria dava a impressão de que quebravam potes. Uma canoa carregada de bilhas, panelas de barro, 18 frasqueiras de cachaça e 40 potes de mel, havia ali naufragado. E até hoje as águas, bêbadas, quebravam potes que não acabavam nunca, rolando pela espuma, na correnteza, no fundo e nos pedrais. Alfredo sabia que no quebra pote naufragara também uma canoa do Araquiçauá, o filho do Raimundo Reis, parente de sua mãe, se afogara. Diante do quebra pote, o farol de Cutijuba. Muitas vezes iluminara rostos de gente aos gritos se afogando, proas emborcando, quilhas viradas, mãos no último espasmo, mastros partidos entre bilhas e potes que as águas quebravam no caldeirão.
O barco, porém, não passara pelo quebra pote. Alfredo sentiu-se lesado ao saber disso. Quarenta potes de mel. Quarenta potes de mel. Ouvia a risada do tripulante e o barco deu um balanço longo. Subiam do fundo da moringa os sinos de Andreza.
Meia hora depois, acordou à porta de uma daquelas histórias que Lucíola lhe contava havia tanto tempo. Era bem curioso aquilo. Cuidava também escutar aquela flauta do baile do chalé, no céu e terra amanhecendo. Na boca verde do rio, antes invisível, as águas nasciam pela primeira vez. Pelos contornos da paisagem, um azul quase violeta com manchas de névoa escura e brilhos foscos. Franjas luminosas infiltravam-se pelos arvoredos marginais, salpicando a maré.
Em breve, das nuvens desceria Belém, a sombra da cidade espalhava-se pela baía, recortava-se nas restingas; nos mil e um espelhos da onda e da espuma, casas e barcos se miravam, irreconhecíveis e inconstantes, visão de Belém tão dispersa e vária quanto concentrada e fixa no coração do menino.
Acendendo as suas achas no fogo oculto, o nascente se [393] debruçava sobre a selva. Brotos aqui e ali, acesos, pareciam estender suas palmas e cachos ao ranger das velas e ao alçar das ancoras. E em tudo isso, de repente, irrompiam, para a imaginação de Alfredo, as luzes de Belém e o olhar de Andreza, de pestanas vermelhas.
— Maré já deu.
Era a voz do piloto, como se a própria água tivesse falado, voz remota, desconhecida, depurada pela tormenta da noite. O hálito da maré enchendo dava em Alfredo uma quase angustiosa impaciência de chegar. Todos os tripulantes, nos barcos, canoas e igarités, ergueram os cabos para puxar as velas. Em torno dos mastros, cheios da luz que enchia como a maré, pareciam feiticeiros.
Na onda da luz e da sombra, fugiam os bichos que levaram a noite inteira sacudindo a baía. E logo correu um estremecimento, era o sol que se empoleirou na mataria das ilhas como um galo, sacudindo a crista e as asas sobre as palmeiras. E seu canto se espalhou, lambeu os peitos, queimou as nuvens e aqueceu as “elas. Sol de Belém. O canto se multiplicou pelos sítios próximos naqueles ecos que eram os tristes e invisíveis galos da terra, cantando.
E se fez tão irreal o instante que o menino chegava a imaginar os canoeiros como foliões do Divino, na cerimônia de sus. pender as velas ao som da reza e dos tambores dentro d’água. Diante do barco, a curicaca de velhinha enrolada. Na tolda, uma mulher tinha a graça das caboclas de sono e fadiga quando voltam pelo rio de uma festa de três dias. À proporção que o dia raiava, só a mulher parecia murchar, o olhar no rio em busca da noite perdida, da festa para sempre acabada.
A vela, ao sacudir-se, saudou o sol e o menino ouviu o soluço das enxárcias e as outras velas vizinhas com sua palpitação de asas cativas. Ouvia-lhes a voz sufocada e retesa no temporal, o seu duro bater na escuridão. Pesadas e barrentas as águas arquejavam, era já a noite ressonando lá no fundo.
A mulher, flor que só abre à noite e murcha ao raiar do dia, alisava o pescoço, o cabelo desenrolado, a ponta de uma fita no colo, o olhar no rio. Alfredo banhava-se na claridade. Seriam sempre assim as manhãs de Belém?
[394] Balançou a cabeça. Por que a mulher não tirava os olhos do rio? Via, agora, só agora via, que os tripulantes do “São Pedro” estavam esgotados, sonolentos.
Mas era preciso olhar para a foz do Carnapijó, abrigo das embarcações. As velas deixavam a foz, voando para a baía, lentas e indecisas, com o vagar das garças e das noivas, como se não soubessem que rumo tomar. Vermelhas, azuis, claras, pardas e escuras, inchavam as velas ao vento como borboletas grandes saindo da floresta. E o rio, por isso, no seu coleio, lambia, satisfeito, os pedrais, a areia, quilhas e cacuris das margens. E nele, refletido, vagando como uma semente, o olhar da mulher da curicaca.
— Sobe o pano.
Aí a cabocla se levantou e ajudou o piloto, na curicaca, a levantar o pano. A canoinha de pano solto, foi rompendo as maretas. Proas de pedra, curvas de areia, pontas de ilhas. Marajó se espreguiçava na neblina, onde agora, tão misterioso, o chalé se confundia com a sepultura de Mariinha, com o corpo de Lucíola, grande, no campo orvalhado. Onde desembocavam os rios marajoaras, pois se o mato era apenas mancha e sereno na lonjura?
E a saudade do menino entrava pelas janelas da varanda, olhava o pai junto do prelinho francês — sim, já devia estar acordado — examinando os rolos ou tentando ver na meia luz do amanhecer um catálogo novo.
À beira das miúdas enseadas, pescadores armavam tapagem ou gamboa para pegar tainha. Um pedral espumava na enchente.
— Parece um lote de búfalos n’água, disse um tripulante.
Ao sol os miritizeiros cacheavam.
Alfredo tomou o café, olhando a curicaca. De pé, recostada ao mastrinho, a cabocla enrolava o cabelo, vagarosa, a olhar novamente o rio. A canoinha corria que nem ave apanhando peixe.
No Carnapijó, as velas desabrochavam e era de se esperar que todas essas canoas, barcos e curicacas fossem levar a felicidade para o mundo.
Alfredo via na curicaca já distante a cabeça da mulher prendida sobre o rio. E como um clamor, ecos ressoavam na mataria [395] adentro. Alfredo sentia-se inquieto novamente. Aquelas vozes e ecos da terra geral, tiros e latidos, entravam soturnos e gelados em sua ansiedade.
— Olha o farol, disse o piloto ao menino.
Alfredo se encheu de orgulho, o piloto lhe falara.
— Viu, mamãe?
— En, en, respondeu ela, cabelo levemente úmido da madrugada, enxugando as mãos na saia. E Alfredo se voltou para o poente, viu as velas povoando a baía, dirigindo-se para Marajó num silencioso vôo de migração. O sol crescia, a baía se incendiava, um navio entrava no Arrozal com a nódoa esparsa do fumo. A água ao longe tinha um azul de grande mar, escamado de sol. Da mata comum, sobre as imbaubeiras, mangues e palhoças, as samaumeiras erguiam as copas muito alto para colher das nuvens a luz que se derramava.
O barco seguia viagem. Alfredo, coração miudinho, não via ainda a cidade. O barco entrava por furos, rios, matas, era saudado por velhas casas, coqueiros e trapiches. Num barranco, em pleno tempo, Nossa Senhora da Boa Viagem lhe dava bons dias. Os navegantes contavam lendas da santa. Tinha a face voltada para a baía. Nunca permitia que a levassem para uma igreja. Preferia ficar ali no rude barranco, batido de vento, olhando a navegação. Alfredo ouviu a mãe contar a lenda. A imagem, branca sobre o barranco escuro, parecia acenar-lhe. Diante dela, a baía, os caminhos do oceano, os ninhos da trovoada.
O barco se arrastava como numa solidão. Até que a uma volta do rio, se pudesse ver, lá no fundo, qualquer coisa espessa e parda, logo o desenho da caixa d’água, torres, chaminés de gaiolas, a primeira bóia do canal, as alvarengas. Como Alfredo invejava os passageiros daquele navio que tão velozmente se aproximava do porto. Por que estava tão inquieto e confusas recordações lhe assaltavam o coração? Talvez fosse o peso da alegria e do orgulho de chegar, tão bom que já lhe doía. Prometera manter-se calmo, achando que era a coisa mais natural do mundo chegar a Belém, não passar nunca por matuto, fazendo crer, isto sim, que era habituado à cidade. Feliz e cheio de temores, doendo-lhe o desejo [396] de logo chegar e ao mesmo de retardar a chegada, assobiava não para chamar o vento, como faziam os tripulantes, mas para enxotá-lo. E lembrou, com desapontamento que o barco teria de ir antes ao Curro levar a pobre carga das oito vacas tão ali pobrezinhas, como restos de um rebanho perdido num naufrágio.
Mas respirava o ar da manhã, ar da cidade, sinos, apitos, bondes, buzinas, campainhas do colégio. Avenida Gentil Bittencourt, 160. O cheiro de Belém era mesmo aquele que parecia sufocá-lo?
A mãe lhe sorria, quieta como a fidelidade. Alfredo tocou-lhe o ombro e nele inclinou o rosto. Ah, se a sua querida mãe voltasse a sorrir como agora sorria, tranqüila como estava naquela manhã da chegada a Belém.
Dalcídio Jurandir
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















