



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




SHLAAC! A picareta atingiu a parede de terra e, cintilando em uma lasca de sílex oculta, afundou na argila, parando subitamente com um baque surdo.
— Pode ser aqui, Will!
Dr. Burrows avançou, engatinhando pelo túnel apertado. Transpirando e respirando mal no espaço confinado, começou a escavar febrilmente a terra, seu hálito formando uma névoa no ar úmido. Sob a luz combinada das lanternas de capacete, cada punhado ávido revelava outras tábuas de madeira velha, expondo sua superfície rachada e granulosa de alcatrão.
— Me passe o pé-de-cabra.
Will vasculhou uma maleta, encontrou o rombudo pé-de-cabra azul e o entregou ao pai, cujo olhar estava fixo na área de madeira diante dele. Forçando a ponta achatada da ferramenta entre duas tábuas, dr. Burrows grunhiu ao lançar todo seu peso para trás para ter algum impulso. Depois começou a alavancar de um lado a outro. As tábuas crepitaram e gemeram nos pregos enferrujados até que, enfim, incharam, soltando-se com um estalo alto. Will recuou um pouco ao sentir o sopro de uma brisa fria e úmida vinda do buraco agourento criado pelo dr. Burrows.
Apressados, eles arrancaram mais duas tábuas, deixando um espaço da largura de um ombro, e pararam por um momento em silêncio. Pai e filho se viraram e se olharam, compartilhando um breve sorriso de conspiração. Seus rostos, cada um iluminado pela lanterna do parceiro, estavam sujos de terra como numa pintura de guerra.
Eles se voltaram para o buraco e começaram a vagar pelos grãos de poeira que flutuavam feito diamantes pequenininhos, formando e refazendo constelações desconhecidas na abertura negra como a noite.
Dr. Burrows inclinou-se cautelosamente para o buraco, Will espremendo-se ao lado dele para espiar por sobre o ombro do pai. Sob a luz das lanternas dos capacetes que penetrava no abismo, entrou em foco claramente uma parede curva e ladrilhada. A luz das lanternas, penetrando mais fundo, oscilou por dois cartazes cujas bordas descascavam da parede e se agitavam devagar, como gavinhas de algas pegas na forte correnteza do fundo do mar. Will ergueu a cabeça um pouco, varrendo o espaço ainda mais, chegando à beira de uma placa esmaltada. Dr. Burrows seguiu o olhar do filho até que os feixes de luz se uniram e mostraram um nome com muita clareza.
— Highfield & Crossly North! É isso, Will, é isso! Nós achamos! — A voz empolgada do dr. Burrows ecoou nos confins abafados da estação ferroviária abandonada. Eles sentiram uma leve brisa no rosto, de algo que soprava pela plataforma e descia aos trilhos, como que reagindo em um pânico vivificado a esta invasão rude, depois de tantos anos, em sua catacumba lacrada e esquecida.
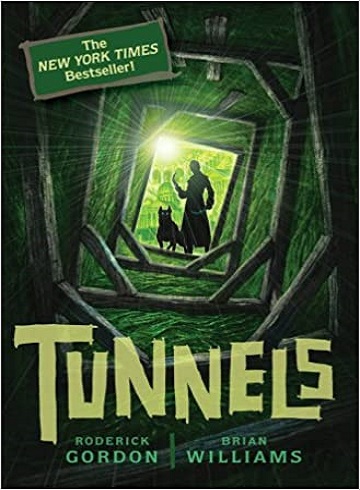
Will chutou desvairadamente a madeira na base da abertura, lançando um jato de lascas e fragmentos de madeira podre, até que de repente o chão abaixo dele escorregou e se derramou na caverna. Ele cambaleou pela abertura, pegando a pá ao entrar. Seu pai estava bem atrás e os dois seguiram um pouco, abaixados na superfície sólida da plataforma, os passos ecoando e as lanternas de capacete lançando faixas na escuridão que os cercava.
Teias de aranha pendiam em meadas do teto e o dr. Burrows soprou quando uma delas envolveu seu rosto. Ao olhar em volta, sua luz pegou o filho, uma visão estranha, com um emaranhado de cabelos brancos projetando-se como palha alvejada do capacete de minerador amassado da bata-lha, os olhos azuis-claros cintilando de entusiasmo ao piscarem no escuro. Era difícil descrever as roupas de Will, a não ser que se dissesse que pareciam ser do mesmo marrom-avermelhado e da mesma textura da argila em que estivera trabalhando. Colava-se nele, cobrindo-o no pescoço, deixando-o parecido com uma escultura que fora por milagre infundida de vida.
Quanto ao próprio dr. Burrows, era um homem magro e rijo, de estatura mediana — ninguém o descreveria como alto nem baixo, na realidade, só em algum ponto no meio. Tinha um rosto redondo com olhos castanhos e penetrantes que pareciam muito mais intensos devido aos óculos de aro dourado.
— Olhe aqui, Will, olhe só isso! — disse ele, enquanto sua lanterna pegava uma placa acima do buraco pelo qual os dois acabaram de sair. SAÍDA, dizia em grandes caracteres pretos. Eles viraram as lanternas de mão e, ricocheteando pela escuridão, os feixes de luz, unidos às lanternas de capacete, mais fracas, revelaram toda a extensão da plataforma. Raízes pendiam do teto e as paredes eram revestidas de eflorescência e raiadas de um calcário branco como giz cujas fissuras estavam úmidas. Eles podiam ouvir o som de água corrente em algum lugar ao longe.
— Que tal uma descoberta dessas? — disse o dr. Burrows com um ar de satisfação pessoal. — Pense só nisso, ninguém pôs os pés aqui desde que a nova ferrovia de Highfield foi construída em 1895. — Eles haviam saído em um dos extremos da plataforma e agora o dr. Burrows apontava a lanterna para a abertura do túnel ferroviário ao lado deles. Estava bloqueada por um monte de entulho e terra. — Será exatamente igual do outro lado... Devem ter lacrado os dois túneis.
Enquanto eles andavam pela plataforma, olhando as paredes, era possível distinguir blocos de ladrilhos creme rachados com bordas verde-escuras. Lampiões a querosene brotavam mais ou menos a cada três metros, vários com o quebra-luz de vidro ainda intacto.
— Pai, pai, vem aqui! — gritou Will. — Já viu esses cartazes? Ainda dá para ler. Acho que são anúncios de terras ou coisa assim? E este aqui está bom... Circo de Wilkinson... a se apresentar no Parque... 10º dia de fevereiro de 1895. Tem uma foto — disse Will sem fôlego enquanto o pai se juntava a ele. O cartaz fora poupado dos danos da umidade e eles distinguiram as cores rudes do topo grande e vermelho, com um homem de azul e cartola parado na frente. — E olha só isso. Gordo demais? Pílulas de Elegância do Doutor Gordon! — O desenho em traços grossos retratava um homem majestoso de barba, segurando um pequeno recipiente.
Eles seguiram mais adiante, passando por uma montanha de entulho que descia de um arco para a plataforma.
— Este aqui levaria para a outra plataforma — disse o dr. Burrows ao filho.
Eles pararam para olhar um banco de ferro batido ornamentado.
— Isto vai ficar bonito no jardim. Só precisa de uma lixada e algumas demãos de verniz — murmurava o dr. Burrows enquanto a lanterna de Will iluminava uma porta de madeira escura, escondida nas sombras.
— Pai, não há um escritório ou coisa parecida na sua planta? — perguntou Will, fitando a porta.
— Um escritório? — respondeu o dr. Burrows, vasculhando os bolsos até encontrar a folha de papel que procurava. — Deixe-me dar uma olhada.
Will não esperou por uma resposta, empurrando a porta, que estava emperrada. Perdendo rapidamente o interesse na planta, dr. Burrows foi ajudar o filho e, juntos, eles tentaram abrir a porta com os ombros. Ela mal oscilou no batente, mas na terceira tentativa cedeu repentinamente e eles tropeçaram para uma sala, tomando um banho de lodo na cabeça e nos ombros. Tossindo e esfregando a terra dos olhos, abriram caminho por uma cortina de teias.
— Caramba! — exclamou Will em voz baixa. Ali, no meio do pequeno escritório, distinguiram uma mesa e uma cadeira, cobertas de pó. Will avançou cautelosamente para trás da cadeira e, com a mão enluvada, espanou a camada de teias de aranha da parede, revelando um mapa grande e desbotado do sistema ferroviário.
— Deve ter sido a sala do chefe da estação — disse o dr. Burrows ao varrer com o braço o tampo da mesa, descobrindo um mata-borrão, no qual havia uma xícara de chá e um pires encardidos. Ao lado deles um pequeno objeto, descolorido pelo tempo, vazava verde na superfície da mesa. — Que coisa fascinante! Um telégrafo ferroviário, muito bem-feito... De bronze, eu diria.
Duas das paredes eram revestidas de prateleiras com pilhas de caixas de papelão em ruínas. Will escolheu uma caixa ao acaso e a levou para a mesa rapidamente, porque havia o risco de ela desmontar em suas mãos. Ele ergueu a tampa disforme e olhou maravilhado os maços de bilhetes antigos. Pegou um deles, mas o elástico perecido esfarelou, espalhando bilhetes feito confete pelo tampo da mesa.
— Estão em branco... Ainda não tinham sido impressos disse o dr. Burrows.
— Tem razão — confirmou Will, sem parar de se surpreender com o conhecimento do pai, ao examinar um dos bilhetes. Mas o dr. Burrows não estava ouvindo. Ajoelhava-se e mexia em um objeto pesado na prateleira mais baixa, embrulhado em um pano podre que se dissolveu a seu toque.
— E aqui — anunciou o dr. Burrows enquanto Will se virava para ver o aparelho, que parecia uma máquina de escrever antiga com uma manivela grande do lado — é um exemplar de máquina primitiva de impressão de bilhetes. Meio corroída, mas talvez possamos limpar as partes mais danificadas.
— O que, para o museu?
— Não, para minha coleção — respondeu o dr. Burrows. Ele hesitou e seu rosto assumiu uma expressão séria. — Veja bem, Will, não vamos dizer uma palavra sobre isso, sobre nada disso, a ninguém. Entendeu?
— Hein? — Will girou o corpo, um leve franzido vincando a testa. É claro que nenhum dos dois ia divulgar o fato de que se envolveram neste trabalho de escavação elaborado em suas horas vagas — não havia ninguém seriamente interessado mesmo. Sua paixão pelo que estava enterrado e o ainda não revelado era uma coisa que eles não compartilhavam com mais ninguém, algo que unia pai e filho... Um vínculo entre eles.
Eles ficaram parados na sala, as lanternas de minerador pairando no rosto um do outro. Como o filho não deu nenhum tipo de resposta, dr. Burrows o encarou e continuou.
— Não preciso lembrá-lo do que aconteceu no ano passado com a villa romana, preciso? Apareceu aquele professor medalhão, que tomou posse da escavação e ficou com toda a glória. Fui eu que descobri aquele sítio e o que foi que consegui? Um reconhecimento minúsculo sepultado no arremedo ridículo de artigo dele.
— É, eu me lembro — disse Will, recordando-se da frustração do pai e de suas explosões de cólera na época.
— Quer que aconteça novamente?
— Não, claro que não.
— Bem, desta vez não serei só uma nota de rodapé. Prefiro que ninguém saiba disso. Não vão roubar isso de mim, não desta vez. De acordo?
Will assentiu, fazendo com que a luz da lanterna subisse e descesse na parede.
Dr. Burrows olhou o relógio.
— Agora nós precisamos voltar, sabe disso.
— Tá bom — respondeu Will de má vontade.
O pai entendeu seu tom de voz.
— Não temos pressa, temos? Podemos levar o tempo que quisermos para explorar o resto amanhã à noite.
— Não, acho que não — disse Will sem nenhum entusiasmo, seguindo para a porta.
Dr. Burrows deu um tapinha afetuoso no capacete duro do filho ao saírem do escritório.
— Devo dizer que foi um trabalho excelente, Will. Todos aqueles meses de escavação valeram mesmo a pena, não é?
Eles refizeram os passos até a abertura e, depois de uma última olhada na plataforma, subiram de volta ao túnel. A mais ou menos seis metros, o túnel se abriu, e assim eles puderam seguir lado a lado. Se o dr. Burrows se curvasse um pouco, seria alto o suficiente para ele ficar de pé.
— Precisamos reforçar os suportes e as estacas — anunciou o dr. Burrows, examinando o trecho de madeira no alto. — Em vez de um a cada metro, como discutimos, deve haver dois por metro.
— Claro. Tudo bem, pai — garantiu-lhe Will, sem parecer convincente.
— E precisamos levar isso para fora — continuou o dr. Burrows, cutucando com a bota um monte de argila no chão do túnel. — Não queremos ficar apertados demais aqui embaixo, não é?
— Não — respondeu Will vagamente, sem realmente pretender fazer alguma coisa. Graças à mera emoção da descoberta, ele desconsiderava com demasiada freqüência as diretrizes de segurança que o pai tentava impor. Sua paixão era escavar e a última coisa que tinha em mente era perder tempo com a “faxina”, como chamava o dr. Burrows. E, de qualquer forma, o pai raras vezes se prontificava a ajudar na escavação em si, só aparecendo quando um de seus “pressentimentos” se confirmava.
Dr. Burrows assoviava distraído entre dentes ao se abaixar para inspecionar uma torre de baldes numa pilha ordenada e um monte de tábuas. À medida que continuavam, o túnel subia e ele parou várias vezes para testar as estacas de madeira de cada lado. Batia nelas com a palma da mão; ao fazer isso, o assovio obscuro chegava a um guincho impossível.
A passagem por fim se aplainou e se alargou em uma câmara grande, onde havia uma mesa de armar e duas cadeiras de braço gastas. Eles colocaram parte do equipamento na mesa, depois subiram o último trecho de túnel até a entrada.
Assim que o relógio da cidade soou a última batida das sete horas, uma folha de aço corrugado se ergueu alguns centímetros em um canto do estacionamento da Temperance Square. Era o início do outono e o sol mostrava uma ponta no horizonte enquanto pai e filho, satisfeitos ao ver que a área estava limpa, empurravam a folha e revelavam no chão o grande buraco emoldurado em madeira. Eles colocaram a cabeça mais um pouco para fora, verificando se havia alguém no estacionamento, em seguida saíram do buraco. Depois que a folha de aço foi recolocada na entrada, Will chutou a terra por cima, para disfarçar.
Uma brisa agitava os tapumes em torno do estacionamento e um jornal girou pelo chão como um rolo de galhos secos, espalhando suas páginas no impulso que tomara. À medida que o sol tornava distintos os contornos dos armazéns ao redor e se refletia na fachada de ladrilhos vinho de um conjunto habitacional Peabody Estate, próximo, os dois Burrows andaram devagar até o carro estacionado, parecendo, em tudo, uma dupla de prospectores deixando sua mina no sopé da montanha para voltar à cidade.
Capítulo Dois
Do outro lado de Highfield, Terry Watkins, o “Tipper Tel” para os colegas no trabalho, estava de calça de pijama e escovava os dentes diante do espelho do banheiro. Estava cansado e esperava ter uma boa noite de sono, mas sua mente ainda dava cambalhotas pelo que vira naquela tarde.
Foi um dia terrivelmente longo e árduo. Ele e a equipe de demolição puseram abaixo as antigas paredes de tinta tóxica branca para dar espaço a um novo prédio de escritórios para um ou outro departamento do governo. Mais do que tudo, ele queria ir para casa, mas prometera ao chefe que derrubaria algumas fiadas de alvenaria no porão para tentar avaliar a extensão de suas fundações. A última coisa que sua empresa precisava era estourar o contrato, um risco sempre presente com esses prédios antigos.
Com a luz da lanterna portátil por trás, ele girava a marreta, rachando os tijolos feitos à mão, que revelavam suas entranhas vermelhas como animais eviscerados. Ele girou de novo, espalhando fragmentos no chão coberto de fuligem do porão, e xingou baixinho porque todo o maldito lugar fora muito bem construído.
Depois de mais alguns golpes de marreta, ele esperou que a nuvem de pó de tijolo baixasse. Para sua surpresa, descobriu que a área da parede que estivera atacando só tinha uma camada de tijolos. Havia uma folha de ferro-gusa onde deveriam estar a segunda e a terceira camadas. Ele a golpeou algumas vezes e ela ressoou com um tinido substancial a cada golpe. Não ia ceder com facilidade. Ele respirava mal ao pulverizar os tijolos em torno da superfície de metal e descobriu, surpreso, que tinha dobradiças, e até uma espécie de maçaneta num recesso de sua superfície.
Era uma porta.
Ele parou, arfando por um momento enquanto tentava deduzir por que alguém ia querer ter acesso ao que devia fazer parte das fundações.
Depois, Watkins cometeu o maior erro de sua vida.
Usou a chave de fenda para puxar a maçaneta, um anel de ferro batido que girou com um esforço surpreendentemente pequeno. A porta se abriu para dentro com uma ajudazinha de uma de suas botas e bateu na parede do outro lado, o barulho ecoando pelo que parecia uma eternidade. Ele pegou a lanterna e iluminou a escuridão de breu do ambiente. Podia ver que tinha pelo menos seis metros de largura e era, na verdade, circular.
Ele passou pela porta, pisando na superfície de pedra do lado de dentro. Mas, no segundo passo, o chão de pedra desapareceu e seu pé só encontrou ar. Ia cair! Ele balançou na beira, os braços se agitando freneticamente até conseguir recuperar o equilíbrio e recuar da borda. Caiu de costas no umbral da porta e subiu nela, respirou fundo algumas vezes para acalmar os nervos e se xingou por sua precipitação.
— Vamos lá, não é nada demais — disse ele em voz alta, obrigando-se a avançar novamente. Ele girou e andou devagar, a lanterna revelando que na realidade estava parado em uma saliência de pedra e havia uma escuridão agourenta além dela. Ele se inclinou, tentando distinguir o que estava lá embaixo; parecia não ter fundo. Tinha entrado em um enorme buraco de tijolos. E, ao olhar, não pôde ver o alto do buraco: as paredes de tijolos se curvavam dramaticamente nas sombras, ultrapassando os limites de sua pequena lanterna de bolso. Uma brisa forte parecia vir de cima, gelando o suor de sua nuca.
Girando a lanterna, ele percebeu uma escada, talvez de meio metro de largura, que descia pela beira da parede, a partir da saliência de pedra. Ele deu o primeiro passo para testar e, como parecia sólido, começou a descer a escada cautelosamente, para não escorregar na fina camada de pó, palha e galhos que a cobria. Abraçando o diâmetro do poço, ele desceu, cada vez mais fundo, até que a porta iluminada por holofotes tornou-se um pontinho minúsculo acima dele.
Por fim, os degraus terminaram e ele se viu em um piso de laje. Usando a lanterna para dar uma olhada em volta, ele pôde ver muitos canos de um cinza-chumbo opaco subindo pelas paredes, como um órgão de igreja embriagado. Ele acompanhou o trajeto de um dos canos que vagava para cima e viu que se abria em um funil, como uma espécie de respiradouro. Mas o que chamou sua atenção, mais do que qualquer outra coisa, foi uma porta com uma janelinha de vidro. Havia uma luz inconfundível do outro lado e ele só pôde pensar que de algum modo tinha tropeçado no metrô, particularmente porque podia ouvir o zumbido de maquinaria e sentir uma corrente de ar descendo sem parar.
Ele se aproximou da janela devagar, um círculo de vidro grosso mosqueado e arranhado pelo tempo, e espiou. Não conseguiu acreditar no que seus olhos lhe mostraram. Através de sua superfície ondulada, havia uma cena de filme em preto-e-branco antigo e irregular. Parecia haver uma rua e uma fila de prédios. E, banhados na luz de esferas cintilantes de uma chama lenta, havia gente andando por ali. Gente que parecia amedrontada. Fantasmas anêmicos usando roupas antiquadas.
Ele não era um homem particularmente religioso, só ia à igreja nos casamentos e quando havia um ou outro funeral, mas, por um momento, Watkins se perguntou se tinha dado com um anexo do inferno, ou pelo menos uma espécie de parque temático do purgatório. Ele se afastou da janela e fez o sinal-da-cruz, murmurando uma Ave-Maria aflita e imprecisa, e fugiu de volta pela escada num pânico cego, fazendo uma barricada na porta para que nenhum dos demônios escapasse.
Ele correu pelo canteiro de obras deserto e passou o cadeado no portão principal depois de sair. Enquanto dirigia para casa numa névoa, perguntou-se o que diria ao chefe na manhã seguinte. Embora tenha visto com seus próprios olhos, não conseguia deixar de repassar a visão repetidas vezes em sua mente. Quando chegou em casa, não sabia mais no que acreditar.
Não conseguiu deixar de comentar o assunto com a família; precisava falar com alguém sobre isso. A esposa Aggy e os dois filhos adolescentes concluíram que ele andara bebendo e não deram a mínima para ele no jantar. Em meio a gargalhadas cruéis, ergueram garrafas imaginárias e fingiram beber, até que ele se calou. Mas Watkins não conseguia deixar o assunto de lado e, por fim, Aggy lhe disse para calar a boca e parar de tagarelar sobre monstros de cabelo branco do inferno e bolas reluzentes de fogo enquanto ela tentava assistir a ’Stenders na televisão.
Então, aqui estava ele, no banheiro, escovando os molares e se perguntando se o inferno realmente existia, quando ouviu o começo de um grito — o grito de sua mulher —, aquele em geral reservado aos camundongos ou aranhas errantes na banheira. Mas isso foi pouco antes de ela passar ao habitual berro encorpado.
Seu alarme instintivo tocou, os nervos se agitaram como um curto-circuito enquanto girava o corpo, e ele viu as luzes apagadas e o mundo virado de cabeça para baixo enquanto seus pés eram agarrados e ele era suspenso pelos tornozelos. Seus braços e pernas ficaram presos de lado por alguma coisa tão mais forte que ele não conseguiu lutar de jeito nenhum. Depois um material espesso o envolveu, grudando em todo seu corpo, até que ele se tornou um rolo de tapete humano, e foi girado para a horizontal e carregado, exatamente como um tapete.
Estava fora de cogitação gritar, já que sua boca estava obstruída, e só com o maior esforço possível conseguia respirar. A certa altura, pensou ter ouvido a voz de um dos filhos, mas foi tão breve e abafada que não dava para ter certeza. Ele nunca ficou tão apavorado por sua família, e por si mesmo, em toda a vida. E jamais se sentira tão completamente impotente.
Capítulo Três
O Museu Highfield era um buraco glorioso — um repositório de pertences supérfluos que foram poupados do aterro sanitário da cidade. O prédio em si foi a antiga prefeitura, convertido simplesmente pela organização ao acaso de caixas de vidro, elas mesmas tão velhas quanto os objetos que abrigavam.
Numa cadeira de dentista horrenda da virada do século, dr. Burrows se acomodou com seus sanduíches, usando como mesa improvisada, assim como costumava fazer, um mostruário de escovas de dente do início do século XX. Ele abriu seu exemplar do The Times e mordeu um sanduíche mole de salame e maionese, aparentemente sem dar importância à sujeira incrustada no implemento dentário abaixo, que o povo do lugar dera ao museu como uma alternativa a jogá-lo fora.
Nos armários em todo o salão principal onde o dr. Burrows agora se sentava havia muitos arranjos similares de objetos salvos pelos lixeiros. O canto da “Cozinha da Vovó” exibia um amplo sortimento de espalhafatosos batedores de ovos, descaroçadores de maçã e coadores de chá. Um par de calandras vitorianas enferrujadas destacava-se com orgulho junto a uma máquina de lavar Old Faithful Electric há muito defunta, que agora criava flocos de ferrugem com a voracidade com que um dia consumiu sabão em pó.
A “Parede dos Relógios” era de uma mediocridade igualmente fascinante. Na verdade, havia um item que chamava a atenção: um relógio vitoriano que tinha pintada no painel de vidro a cena de um fazendeiro com um cavalo puxando um arado, mas, infelizmente, o vidro fora quebrado e faltava uma parte essencial, onde deveria estar a cabeça do cavalo. Em torno dele havia um mostruário bem-arrumado de relógios de parede, elétricos e de pêndulo, dos anos 1940 e 1950, de plástico duro em tons pastel — nenhum deles funcionava, já que o dr. Burrows ainda não se prontificara a consertá-los.
Highfield, um dos menores distritos de Londres, teve um passado rico, iniciado na época dos romanos, como um pequeno povoado que na história mais recente inchou sob o impacto da Revolução Industrial. Porém, pouco desta riqueza chegou ao pequeno museu e o distrito se tornou o que era agora: um deserto de quartos de pensão, sobradinhos de dois cômodos e lojas indefiníveis que não podiam mais pagar por uma localização central.
Dr. Burrows, o curador do museu, também era seu único freqüentador, a não ser aos sábados, quando uma tropa de aposentados idosos tripulava o forte. E sempre a seu lado estava a pasta de couro marrom, que continha vários periódicos, livros meio lidos e romances históricos. Porque era lendo que o dr. Burrows ocupava seus dias, pontuados pela soneca eventual e um cachimbo fumado clandestina e muito ocasionalmente no “Monturo”, um depósito grande, cheio de caixas de postais e retratos de famílias abandonados que nunca seriam colocados em exposição devido à falta de espaço.
Espremido entre os objetos expostos e empoeirados e os antigos mostruários de mogno, ele colocava os pés para cima e lia vorazmente o dia todo com a Rádio 4 tocando ao fundo em um rádio transistor que fora deixado para o museu por um morador bem-intencionado. Além do ocasional grupo escolar desesperado por uma excursão local no clima úmido, muito poucos visitantes apareciam no museu e, depois de ver uma vez, era improvável que voltassem.
Dr. Burrows, como tantos outros, fazia um trabalho que em princípio seria um quebra-galho. Não era que ele não tivesse um histórico acadêmico impressionante: o diploma em história foi acompanhado por outro, em arqueologia, e depois, além de tudo, encimados por um doutorado. Mas com um filho novo em casa e poucos cargos disponíveis em qualquer uma das universidades de Londres, ele topou por acaso com o emprego no museu no Highfield Bugle e mandou seu currículo, pensando que era melhor conseguir alguma coisa, e rapidamente.
Ofereceram-lhe a curadoria, que ele aceitou com a idéia de que procuraria por um emprego mais satisfatório no futuro próximo. E, como tantas outras pessoas, a segurança de um cheque de pagamento regular resultou nos doze anos que se passaram num átimo e com eles qualquer idéia de procurar por alguma coisa melhor.
Então, aqui estava ele, com um doutorado em antigüidades gregas, seu paletó de tweed escuro repleto de remendos professorais nos cotovelos, vendo a poeira assentar nas peças de exposição gastas e ordinárias, consciente, até dolorosamente demais, de que a poeira também assentava nele mesmo.
Terminando o sanduíche, dr. Burrows amassou o papel impermeável numa bola e o lançou, brincalhão, em um cesto de lixo de plástico laranja da década de 1960 em exposição na seção “Cozinha”. Errou, a bola quicou na beira e caiu no chão de taco. Ele soltou um curto suspiro de decepção e pegou a pasta, vasculhando-a até encontrar uma barra de chocolate. Era um regalo que ele tentava poupar para o meio da tarde, para que o dia tivesse alguma graça. Mas, hoje, ele se sentia particularmente infeliz e estava disposto a ceder à sua paixão por doces, rasgando o papel num instante e dando uma grande dentada na barra.
Exatamente neste momento, a campainha da porta de entrada tocou e Oscar Embers bateu nela com suas muletas. O ex-ator de teatro de oitenta anos criou uma paixão pelo museu e se inscreveu para a ocasional vigília de sábado à tarde depois de doar para os arquivos alguns retratos autografados seus do “Spotlight”.
Dr. Burrows, vendo o velho se aproximando, tentou esvaziar logo a boca cheia de chocolate, mas descobriu que estava além de sua capacidade. Mastigando como um louco, ele percebeu que o aposentado, ainda de posse de grande parte de seu juízo, aproximava-se rápido demais. Dr. Burrows pensou em fugir para sua sala, mas sabia que agora era tarde. Ficou sentado ali, imóvel, as bochechas estufadas como as de um hamster enquanto tentava sorrir.
— Uma boa-tarde para você, Roger — disse Oscar, alegremente, enquanto vasculhava o bolso do casaco. — Ora, onde é que a coisa foi parar?
Dr. Burrows conseguiu pronunciar um “hummm” com os lábios apertados, assentindo com entusiasmo. Enquanto Oscar lutava com o bolso do casaco, dr. Burrows conseguiu mastigar algumas vezes, mas o velho olhou para ele, ainda agarrando-se ao casaco como se estivesse revidando. Oscar parou de vasculhar os bolsos por um segundo e olhou míope as caixas de vidro e as paredes.
— Não estou vendo aquela renda que lhe trouxe na outra semana. Não vai colocar em exposição? Sei que está meio puída em alguns lugares, mas ainda assim é coisa boa. — Como o dr. Burrows não respondeu, ele acrescentou: — Então não vai expor?
Dr. Burrows tentou indicar o depósito com um movimento de cabeça. Sem jamais ter visto o curador ficar em silêncio por muito tempo, Oscar o olhou inquisitivamente, mas depois seus olhos se iluminaram quando encontrou o que procurava. Ele o tirou do bolso e o estendeu, com a mão em concha, diante do dr. Burrows.
— Foi-me dado pela velha sra. Tantrumi... Sabe quem é, a italiana que mora no final da High Street. Foi descoberto no porão da casa dela, quando os gasistas fizeram alguns consertos. Preso na terra, ali é que estava. Um deles o chutou sem querer. Acho que devemos incluir na coleção.
Dr. Burrows, com as bochechas infladas, preparou-se para outro timer de ovos não tão antigo ou lata amassada cheia de pontas de caneta usadas. Foi pego de guarda baixa quando, com um floreio de mágico, Oscar lhe estendeu um globo pequeno, que brilhava levemente, pouco maior que uma bola de golfe, protegido por uma grade de metal de um dourado opaco.
— É um bom exemplar de uma... uma luminária... ou coisa assim — prosseguiu Oscar. — Bem, na realidade, não sei para que isto serve!
Dr. Burrows pegou o objeto e ficou tão fascinado que quase se esqueceu de que Oscar o observava com atenção enquanto ele mastigava o chocolate.
— Os dentes estão incomodando, meu rapaz? — perguntou Oscar. — Também costumava trincá-los desse jeito, quando ficavam muito mal. É simplesmente medonho... Sei exatamente como se sente. Só o que posso dizer é que fico feliz por ter me arriscado a arrancá-los todos de uma só vez. Não fica tão desagradável depois que você se acostuma com uma dessas. — Ele começou a colocar a mão na boca.
— Ah, não, meus dentes estão bem — conseguiu dizer o dr. Burrows, tentando rapidamente se livrar da perspectiva de ver a dentadura do velho. Ele engoliu com esforço o que restava do chocolate. — Só está meio seca hoje — explicou ele, esfregando a garganta. — Preciso de uma água.
— Aaahhh, é melhor ficar de olho nisso, entendeu? Pode ser um sinal de que está com o absurdo da diabetes. Quando eu era garoto, Roger — os olhos de Oscar pareciam luzir com a lembrança —, alguns médicos costumavam fazer exames para diabetes provando a sua... — ele baixou a voz a um sussurro e olhou o chão — água, entende o que quero dizer, para ver se não havia muito açúcar nela.
— Sim, sim, eu sei — respondeu o dr. Burrows automaticamente, intrigado demais com o globo de brilho delicado para dar atenção às curiosidades médicas de Oscar. — Muito estranho. Eu me arriscaria a dizer, precipitadamente, que isto deve datar do século XIX, a julgar pelo trabalho no metal... E o vidro eu diria que é anterior, definitivamente feito à mão... Mas não faço idéia do que há dentro dele. Talvez seja alguma substância luminescente... Deixou-o na luz por muito tempo esta manhã, sr. Embers?
— Não, ficou em meu casaco desde que a sra. Tantrumi me deu ontem. Pouco depois do café-da-manhã, foi isso. Eu estava em minha caminhada terapêutica... Ajuda os intestinos velhos a mov...
— Imagino se pode ser radioativo — interrompeu o dr. Burrows asperamente. — Li que testaram se havia radioatividade em algumas pedras e coleções de minerais vitorianos em outros museus. Alguns espécimes bem fortes foram encontrados em um lote na Escócia... Poderosos cristais de urânio que eles tiveram que encerrar numa caixa revestida de chumbo. Perigoso demais para ficar em exposição.
— Ah, espero que não seja perigoso — disse Oscar, dando um passo apressado para trás. — Fiquei andando com ele colado em meu quadril... Só de imaginar que tenha derretido o...
— Não, não acho que tenha essa potência... Não deve ter lhe causado mal algum, não em 24 horas. — Dr. Burrows olhou a esfera. — Que peculiar, pode-se ver um líquido em movimento dentro dela... parece que gira... como uma tempestade... — Ele caiu em silêncio, depois sacudiu a cabeça, sem acreditar. — Não, deve ser o calor de minha mão que a faz se comportar desse jeito... sabe como é... termorreativo.
— Bom, é um prazer saber que acha interessante. Vou contar à sra. Tantrumi que quer ficar com ela — disse Oscar, dando outro passo para trás.
— Claro que sim — respondeu o dr. Burrows. — É melhor pesquisar um pouco antes de colocar em exposição, só para me certificar de que é segura. Mas nesse meio-tempo, vou escrever umas palavras de agradecimento à sra. Tantrumi, em nome do museu. — Ele procurou por uma caneta no bolso do paletó, mas não conseguiu encontrar. — Espere um minuto, sr. Embers, enquanto pego alguma coisa com que escrever.
Ele saiu do salão principal e entrou no corredor, tropeçando em um pedaço antigo de madeira, escavado dos pântanos no ano passado por alguns moradores zelosos demais que juraram que era uma canoa pré-histórica. Dr. Burrows abriu a porta em que “Curador” fora pintado no vidro canelado. A sala estava escura, já que a única janela era bloqueada por uma pilha alta de engradados. Ao tatear em busca da luminária de sua escrivaninha, ele por acaso abriu um pouco a mão que segurava a esfera. O que viu o atordoou completamente.
A luz que emitia parecia ter se transformado, deixando o brilho suave que ele testemunhara no salão principal, assumindo uma fluorescência verde-clara muito mais intensa. Ao observá-la, ele podia jurar que a luz ficava cada vez mais forte e o líquido dentro da esfera se movia com um vigor ainda maior.
— Extraordinário! Que substância se torna mais radiante em um ambiente mais escuro? — murmurou ele para si mesmo. — Não, devo estar enganado, não pode ser! Deve ser porque a luminosidade fica mais perceptível aqui.
Mas o brilho tornara-se mesmo mais intenso; ele sequer precisou da luminária de mesa para localizar a caneta, já que o globo emitia uma sublime luz verde, quase tão clara quanto a luz do dia. Ao deixar a sala e voltar com o livro de donativos ao salão principal, ele segurou o globo no alto, diante de si. Sem nenhuma dúvida, no momento em que retornou a um ambiente iluminado, a esfera voltou a se apagar um pouco.
Oscar estava prestes a dizer alguma coisa, mas dr. Burrows passou apressado por ele, atravessou a porta do museu e foi para a rua. Ele ouviu Oscar gritar “Escute! Escute!” enquanto a porta do museu batia atrás dele, mas o dr. Burrows estava tão concentrado na esfera que o ignorou por completo. Ao erguê-la na luz do dia, ele viu que o brilho se extinguira quase inteiramente e que o líquido na esfera de vidro escurecia até assumir uma cor cinzenta e opaca. E quanto mais tempo ele ficava do lado de fora, expondo a esfera à luz natural, mais escuro ficava o líquido dentro dela, até que ficou quase preto, parecido com petróleo.
Anda balançando o globo diante de si, ele voltou para dentro, observando o líquido começar a se avivar numa minitempestade e brilhar sinistramente outra vez. Oscar esperava por ele, a preocupação estampada no rosto.
— Fascinante... fascinante — disse o dr. Burrows.
— Pensei que estivesse tendo um ataque dos vapores, meu camarada. Eu me perguntei se talvez precisasse de ar fresco, correndo desse jeito. Não vai desmaiar, pois não?
— Não, estou bem, estou muito bem, sr. Embers. Só queria testar uma coisa. Agora, o endereço da sra. Tantrumi, se puder fazer a gentileza?
— Fico feliz por ter agradado ao senhor — disse Oscar. — E, já que estamos aqui, vou lhe dar o número de meu dentista, assim pode ver esses dentes depressa.
Capítulo Quatro
Will estava curvado no guidom da bicicleta na entrada de um terreno baldio cercado de árvores e arbustos silvestres. Ele olhou o relógio outra vez e decidiu que daria mais cinco minutos para Chester aparecer, não mais de cinco minutos. Estava perdendo um tempo precioso.
O terreno era um daqueles lotes esquecidos que encontramos nos arredores de qualquer cidade. Este ainda não fora coberto de casas, provavelmente devido a sua proximidade do aterro sanitário municipal e às montanhas de lixo que subiam e desciam com uma regularidade deprimente. Conhecido no lugar como “as Quarenta Covas”, devido às numerosas crateras que marcavam sua superfície, algumas quase chegando a três metros de profundidade, era a arena de batalhas freqüentes entre duas gangues adversárias de adolescentes, a Clan e a Click, cujos membros provinham dos conjuntos habitacionais mais escabrosos de Highfield.
Também era o lugar preferido de crianças com suas bicicletas de trilha e, cada vez mais, bicicletas motorizadas roubadas, sendo estas últimas atiradas ao chão e depois incendiadas, os esqueletos pretos como carvão espalhando-se pela beira das Covas, onde o mato entremeava as rodas e os blocos de motor enferrujados. Com uma freqüência menor, também era cenário de diversões sinistras de adolescentes, como caça a aves e a sapos; com demasiada freqüência, as criaturas eram torturadas lentamente até a morte e suas carcaças pequenas e lamentáveis empaladas em varetas numa sádica alegria juvenil.
Ao virar a esquina para as Covas, um brilho de metal atraiu a atenção de Chester. Era a face polida da pá de Will, que ele pendurava atravessada às costas, como uma espada de samurai.
Ele sorriu e acelerou o passo, agarrando sua pá de jardim opaca e bastante comum no peito e acenando com entusiasmo para a figura solitária ao longe, que estava inconfundível com sua tez extraordinariamente pálida, o boné e os óculos de sol. Na verdade, toda a aparência de Will era muito estranha; ele vestia seu “kit de escavação”, que consistia em um cardigã enorme com os cotovelos almofadados em couro e calças de veludo cotelê velhas e sujas de terra, de uma cor indefinida devido à fina patina de lama seca que as cobria. As únicas coisas que Will mantinha limpas eram sua amada pá e as biqueiras de metal das botas de trabalho.
— O que aconteceu com você? — perguntou Will, enquanto Chester finalmente o alcançava. Will não entendia como alguma coisa pode ter retido o amigo, como é possível que alguma coisa fosse mais importante do que isso.
Este era um marco na vida de Will, a primeira vez em que permitia que alguém da escola, ou simplesmente alguém, visse um de seus projetos. Ainda não tinha certeza se agira corretamente; ainda não conhecia Chester tão bem assim.
— Desculpe, o pneu furou — bufou Chester. — Tive que levar a bicicleta para casa e correr para cá... E o clima está meio quente.
Will olhou inquieto o sol e franziu a testa. Não era bom para ele: graças a sua falta de pigmentação, até a escassa potência do sol em um dia nublado podia queimar sua pele. Seu albinismo lhe conferia o cabelo quase completamente branco que se projetava do boné e os olhos azuis-claros, que agora disparavam impacientes para o interior das Covas.
— Mas então vamos direto ao que interessa. Já perdemos tempo demais — disse Will rispidamente. Ele partiu na bicicleta, mal olhando para Chester, que começou a correr atrás dele. — Vem, é por aqui — instou ele, já que o outro garoto não conseguia acompanhar sua velocidade.
— Ei, pensei que já estávamos lá! — gritou Chester atrás, ainda tentando tomar fôlego.
Chester Rawls — quase tão largo quanto era alto e forte como um touro, conhecido na escola como Cubóide ou Cômoda — era da mesma idade de Will, mas evidentemente fora beneficiado por uma nutrição melhor ou herdou um físico de halterofilista. Uma das pichações menos ofensivas nos banheiros da escola proclamava que o pai dele era um armário e a mãe uma mesa redonda.
Embora a crescente amizade entre Will e Chester parecesse improvável, o que ajudou os dois a se unir foi a mesma coisa que os isolava na escola: a pele. Para Chester, eram fortes crises de eczema, que resultavam em trechos escamosos e pruriginosos de pele áspera. Isto se devia, disseram-lhe sem ajudar muito, ou a uma alergia inidentificável, ou à tensão nervosa. Qualquer que fosse a causa, ele suportara as gozações e piadas dos colegas, sendo as piores “horrível criatura escamosa” e “bunda de cobra”, até que não agüentou mais e precisou revidar, usando sua vantagem física para subjugar com bom resultado quem o insultava.
Da mesma forma, a palidez de Will o destacava da norma e por algum tempo ele aturou os gritos de “Giz” e “Homem das neves”. Mais impetuoso do que Chester, ele perdeu as estribeiras numa tarde de inverno, quando seus torturadores o emboscaram a caminho de uma escavação. Infelizmente para eles, Will usara muito bem sua pá, e uma batalha sangrenta e unilateral resultou em alguns dentes quebrados e um nariz esmagado.
Era compreensível que depois disso Will e Chester fossem deixados em paz e tratados com aquele respeito relutante que damos aos cães raivosos. Mas os dois meninos continuaram desconfiados de seus colegas de turma, acreditando que a perseguição poderia muito bem recomeçar se baixassem a guarda. Assim, apesar da inclusão de Chester em vários times da escola devido a sua força física, os dois continuaram excluídos: os solitários na beira do pátio. Seguros em seu isolamento compartilhado, eles não falavam com ninguém e ninguém falava com eles.
Isso foi muitos anos antes de eles tentarem conversar, embora há muito houvesse uma admiração furtiva entre os dois pelo modo como sustentaram sua posição contra os valentões da escola. Sem realmente perceber, eles se aproximaram, passando cada vez mais tempo juntos no horário de aula. Will ficara sozinho e sem amigos por tanto tempo que tinha que admitir como era bom ter um companheiro, mas ele sabia que, para a amizade chegar a algum lugar, cedo ou tarde teria que revelar a Chester sua grande paixão — as escavações. E agora chegara o momento.
Will pedalou entre os montes de mato, crateras e pilhas de lixo largado por porcalhões, parando ao chegar ao outro extremo. Desmontou e escondeu a bicicleta em um pequeno abrigo sob a carcaça de um carro abandonado, seu formato irreconhecível graças à ferrugem e ao desmonte que suportou.
— Chegamos — anunciou ele, enquanto Chester o alcançava.
— É aqui que vamos cavar? — Chester arfava, olhando o chão em volta de seus pés.
— Não. Afaste-se um pouco — disse Will. Chester se afastou alguns passos de Will, olhando-o bestificado.
— Vai começar uma nova?
Will não respondeu, mas se ajoelhou e pareceu tatear alguma coisa em um trecho de mato. Descobriu o que procurava um pedaço de corda com nós — e se levantou, pegou a ponta solta e puxou com força. Para surpresa de Chester, uma fenda se abriu na terra e um painel grosso de compensado se ergueu, a terra caindo dele e revelando uma entrada escura.
— Por que precisa esconder isso? — perguntou ele a Will.
— Não posso deixar aquela ralé mexer na minha escavação, posso? — respondeu Will em tom possesso.
— Não vamos entrar aí, né? — questionou Chester, aproximando-se mais para espiar o vazio.
Mas Will já começava a descer pela abertura que, depois de um ou dois metros, ficava cada vez mais funda e inclinada.
— Guardei um desses para você — disse Will de dentro da abertura enquanto colocava um capacete amarelo e acendia a lanterna de minerador instalada na frente. Ela brilhou para Chester, que pairava indeciso acima de Will.
— Bom, você vem ou não? — perguntou Will de mau humor. — Vai por mim, é totalmente seguro.
— Tem certeza disso?
— Claro que sim — respondeu Will, demonstrando ao esbofetear um suporte a seu lado e sorrindo com confiança para encorajar um pouco o amigo. Ele continuou a sorrir fixamente ao passo que, nas sombras atrás dele e fora da vista de Chester, uma pequena chuva de terra caía a suas costas. — Seguro como uma casa. É sério.
— Bom...
Depois de entrar, Chester ficou surpreso demais para falar. Um túnel, de alguns metros de largura e igual altura, corria um pouco inclinado para a escuridão, as laterais sustentadas a intervalos freqüentes com estacas velhas de madeira. Parecia, pensou Chester, exatamente as minas daqueles antigos filmes de faroeste que eram exibidos na TV, nas tardes de domingo.
— Que legal! Você não fez tudo isso sozinho, Will, não pode ser!
Will deu um sorriso presunçoso.
— É claro que fiz. Trabalho nele desde o ano passado... E você ainda não viu nem a metade. Venha por aqui.
Ele recolocou a tampa, fechando a boca do túnel. Chester o observou com um misto de emoções enquanto desaparecia a última lasca de céu azul. Eles partiram pelo corredor, passando por pilhas de tábuas e estacas empilhadas desordenadamente nas laterais.
— Caramba! — disse Chester à meia-voz.
Inesperadamente, a passagem se ampliou em uma área do tamanho de uma sala razoável, com dois túneis ramificando-se de cada lado. No meio havia um montinho de baldes, uma mesa de cavalete e duas cadeiras velhas. As tábuas de madeira do teto eram sustentadas por filas de estacas Stillson, colunas ajustáveis de ferro tomadas de ferrugem.
— Lar, doce lar — disse Will.
— Isso é tão... doido — disse Chester sem conseguir acreditar, depois franziu o cenho. — Mas não tem mesmo nenhum problema para a gente aqui embaixo?
— Claro que não. Meu pai me ensinou a reforçar com estacas e a escorar... Não é minha primeira vez, sabe?... — Will hesitou, reprimindo-se bem a tempo, antes de dizer alguma coisa sobre a estação de trem que escavara com o pai. Chester o olhava desconfiado enquanto ele tossia alto para disfarçar o silêncio na conversa. Will jurara segredo ao pai e não podia trair sua confiança, nem mesmo com Chester. Ele fungou alto, depois continuou. — E é perfeitamente seguro. É melhor não abrir túneis embaixo de prédios... Isso requer escoras mais fortes e muito mais planejamento. Além disso, não é uma boa idéia onde houver água ou correntes subterrâneas... Elas podem provocar o desmoronamento da coisa toda.
— Não tem nenhuma água por aqui, tem? — perguntou Chester rapidamente.
— Só essa. — Will pegou uma caixa de papelão na mesa e passou uma garrafa plástica ao amigo. — Vamos nos refrescar por um tempinho.
Os dois se sentaram nas cadeiras velhas, bebendo a água, enquanto Chester olhava o teto e esticava o pescoço para ver os dois túneis.
— É tão tranqüilo, né? — Will suspirou.
— É — respondeu Chester. — Muito... hã... tranqüilo.
— É mais do que isso, é tão quente e calmo aqui embaixo. E o cheiro... Meio reconfortante, né? Papai diz que é de onde viemos, há muito tempo... Os homens das cavernas e essas coisas... E é claro que todos vamos acabar aqui um dia... Debaixo da terra, quero dizer. Então, acho que é meio natural para nós, como se fosse o lar.
— Parece que sim — concordou Chester, em dúvida.
— Sabe de uma coisa, antigamente eu pensava que quando você compra uma casa, também é dono de tudo o que está embaixo dela.
— Como assim?
— Bom, sua casa é construída num terreno, não é? — disse Will, batendo a bota no chão da caverna para dar efeito. — E qualquer coisa abaixo do terreno, direto, até o centro da Terra, também é seu. É claro que quanto mais próximo você chega do centro do planeta, do “segmento”, se quiser chamar assim, vai ficando cada vez menor até que você chega ao próprio núcleo.
Chester assentiu devagar, sem saber o que dizer.
— Então, sempre imaginei cavar para baixo... Descendo em sua fatia do mundo e todos aqueles milhares de quilômetros que são desperdiçados, em vez de ficar só sentado em um prédio empoleirado na crosta da Terra — disse Will sonhadoramente.
— Sei — disse Chester, apreendendo a idéia. — E aí, se você cavasse para baixo, poderia ter tipo um arranha-céu, só que invertido. Como se fosse um pêlo encravado ou coisa assim. — Ele coçou involuntariamente o eczema no braço.
— É, é isso mesmo. Não tinha pensado desse jeito, é um bom argumento. Mas papai diz que você não é dono de toda a terra abaixo... O governo tem o direito de construir tubulações e essas coisas, se quiser.
— Ah — disse Chester, perguntando-se por que, antes de tudo, eles estavam falando nisso, se as coisas eram assim.
Will se colocou de pé num salto.
— Muito bem, pegue uma picareta, alguns baldes e um carrinho de mão, e siga-me por aqui. — Ele apontou para um dos túneis escuros. — Há um probleminha com uma pedra.
Enquanto isso, na superfície, o dr. Burrows andava decidido para casa. Sempre gostou da oportunidade de pensar ao caminhar por alguns quilômetros e isso também significava que economizaria na passagem do ônibus.
Ele parou na banca de jornal, detendo-se abruptamente a meio passo, oscilou um pouco, girou 90 graus e entrou.
— Dr. Burrows! Estava começando a achar que nunca mais o veria de novo — disse o homem atrás do balcão ao desviar os olhos de um jornal aberto diante dele. — Pensei que tivesse partido em um cruzeiro pelo mundo ou coisa parecida.
— Ah, não, quem me dera — respondeu o dr. Burrows, tentando desviar os olhos das barras de Snickers, Mars e Walnut Whips exibidas tentadoramente diante dele.
— Guardamos as suas reservas — disse o vendedor ao se curvar sob o balcão e aparecer com uma pilha de revistas. — Aqui estão. Excavation Today, The Archaelogical Journal e Curators’ Month. Todas atuais e corretas, espero.
— É assim que deve ser — disse o dr. Burrows, procurando pela carteira. — Não ia querer que outra pessoa as levasse!
O jornaleiro ergueu as sobrancelhas.
— Pode acreditar, aqui não há exatamente uma demanda excessiva por estes títulos — disse ele enquanto pegava a nota de vinte libras do dr. Burrows. — Parece que está trabalhando em alguma coisa — acrescentou o jornaleiro, vendo as unhas sujas do dr. Burrows. — Desceu em alguma mina de carvão?
— Não — respondeu o dr. Burrows, contemplando a terra incrustada sob as unhas. — Na verdade, andei fazendo uma oficina no meu porão. Ainda bem que não rôo as unhas, não é?
Dr. Burrows saiu da banca com seu novo material de leitura, tentando enfiá-lo com segurança no bolso lateral da pasta enquanto abria a porta. Ainda lutando com as revistas, ele recuou meio às cegas na calçada, batendo em alguém que seguia a grande velocidade. Arfando ao recuar do homem baixinho mas troncudo em que tinha esbarrado, dr. Burrows deixou cair a pasta e as revistas. O homem, que parecia sólido como uma locomotiva, não se deixou afetar e apenas continuou seu caminho. Dr. Burrows, gago e aturdido, tentou se desculpar às costas dele, mas o homem andava decidido, ajeitando os óculos de sol e virando a cabeça de leve para abrir um esgar antipático ao arqueólogo.
Dr. Burrows ficou espantado. Era um homem-de-chapéu. Ultimamente ele começara a perceber, em meio à população geral de Highfield, um tipo de pessoa que era... bem, era diferente, mas sem se destacar demais. Sendo um observador habitual das pessoas e tendo analisado a situação como sempre fazia, ele supôs que essa gente devia ter algum parentesco. O que mais o surpreendia era que, quando ele levantava o assunto com qualquer pessoa na região de Highfield, ninguém parecia ter dado pela presença dos homens de cara peculiarmente oblíqua, usando chapéus achatados, casacos pretos e óculos escuros muito grossos.
Ao esbarrar no homem, desalojando um pouco seus óculos pretos, o dr. Burrows teve a chance de ver um “espécime” de perto pela primeira vez. Além do rosto singularmente inclinado e o cabelo fino, tinha olhos azuis muito claros, quase brancos, numa pele pastosa e translúcida. Mas havia mais uma coisa: um cheiro peculiar se desprendia do homem, um bolor. Lembrava ao dr. Burrows as velhas malas de roupas mofadas que de vez em quando eram largadas por benfeitores anônimos na escada do museu.
Ele olhou o homem andar decidido pela High Street e seguir na distância, até que era o único à vista. Depois, um transeunte atravessou a rua, interrompendo a linha de visão do dr. Burrows. Naquele instante, o homem-de-chapéu desapareceu. Dr. Burrows semicerrou os olhos através dos óculos e continuou a procurar por ele mas, embora as calçadas não estivessem tão movimentadas, não conseguiu localizá-lo novamente, por mais que tentasse.
Ocorreu ao dr. Burrows que ele devia ter feito o esforço de seguir o homem-de-chapéu para ver onde estava indo. Mas, com as boas maneiras que tinha, ele não gostava de nenhuma forma de confronto e rapidamente raciocinou consigo mesmo que esta não era uma boa idéia, dados os modos hostis do homem. Então, qualquer idéia de trabalho de detetive logo foi abandonada. Além disso, podia descobrir outro dia onde morava o homem e talvez toda a família de semelhantes enchapelados. Quando se sentisse um pouco mais intrépido.
Debaixo da terra, Will e Chester se revezavam na face rochosa, que Will identificara como uma espécie de arenito. Ele ficou feliz por ter recrutado Chester para ajudar na escavação, porque o amigo realmente parecia ter jeito para o trabalho. Observou com uma admiração muda enquanto Chester girava a picareta com uma força imensa e, depois que uma fissura se abriu na rocha, parecia saber exatamente quando arrancar o material solto, que Will rapidamente colocava nos baldes.
— Precisa de um intervalo? — sugeriu ele, vendo que Chester começava a se cansar. — Vamos respirar um pouco. — Will quis dizer respirar literalmente porque, com a entrada para a escavação coberta, muito em breve haveria pouco ar e ficaria abafado onde eles estavam, a uns seis metros da câmara principal.
— Se eu levar esse túnel muito mais à frente — disse ele a Chester enquanto os dois empurravam os carrinhos de mão abarrotados —, terei que cavar uma torre de ventilação. Só que é uma trabalheira tão grande instalar uma dessas, quando eu podia estar descendo mais por aqui.
Eles chegaram à câmara principal e se sentaram nas cadeiras, bebendo a água com prazer.
— E o que vamos fazer com tudo isso? — disse Chester, indicando os baldes cheios nos carrinhos de mão.
— Puxar para a superfície e despejar no barranco do lado.
— Não tem problema fazer isso?
— Bom, se alguém perguntar, eu digo que estou cavando uma trincheira para um jogo de guerra — respondeu Will. Tomando um gole da garrafa, ele engoliu com ruído. — O que interessa a eles? Para eles, somos só um bando de crianças burras com baldes e pás — acrescentou com desdém.
— Eles iam ligar se vissem isso... Não é o que crianças comuns fazem — disse Chester, os olhos girando pela câmara. — Por que é mesmo que você faz isso, Will?
— Dê uma olhada aqui.
Will ergueu delicadamente um engradado de plástico do lado de sua cadeira e o colocou no colo. Depois passou a tirar uma série de objetos, inclinando-se para colocar um por um na mesa. Entre eles, havia garrafas de Codswallop (garrafas de refrigerante vitoriano de gargalos estranhos que continham um mármore vítreo) e todo um sortimento de frascos de remédios de tamanhos e cores diferentes, todos com uma linda camada envelhecida de seu período na terra.
— E estes — disse Will com reverência, enquanto retirava todo um leque de vidros de patê vitorianos de diferentes tamanhos com tampas decorativas e nomes numa caligrafia antiga e sinuosa que Chester nunca vira antes. Na verdade, ele parecia estar genuinamente interessado, pegando cada vidro e fazendo a Will perguntas sobre a idade que tinham e onde exatamente foram encontrados. Estimulado, o garoto continuou até que cada uma de suas descobertas de escavações recentes estivesse em cima da mesa. Depois, voltou a se sentar direito, vendo com cuidado a reação do amigo recém-descoberto.
— O que é esse montinho? — perguntou Chester, sondando com o dedo uma pequena pilha de metal muito enferrujado.
— Pregos do tipo cravo. Provavelmente do século XVIII. Se olhar bem, dá para ver que cada um deles é diferente, como se fossem feitos à mão por...
Mas, em sua empolgação, Chester já havia se desviado na mesa para outra coisa que chamou sua atenção.
— Isso é tão legal — disse ele, erguendo e virando um pequeno frasco de perfume para que a luz brincasse em seus maravilhosos tons de azul-cobalto e malva. — É incrível que alguém tenha jogado fora.
— Não é mesmo? — concordou Will. — Pode ficar com ele, se quiser.
— Não! — disse Chester, pasmo com a oferta.
— É, pode ficar, tenho outro exatamente igual em casa.
— Olha, isso é demais... obrigado — disse Chester, ainda admirando o frasco com tal enlevo que nem viu Will abrir o sorriso mais rasgado que se pode imaginar. Ele praticamente vivia para os momentos em que podia mostrar ao pai a última safra de achados, mas isto era mais do que um dia podia esperar: alguém de sua idade que parecia estar sinceramente interessado nos frutos de seu trabalho. Ele olhou a mesa abarrotada e sentiu inchar de orgulho. Em geral, se imaginava voltando ao passado e colhendo estes pequenos exemplos de história descartada. Para Will, o passado era um lugar muito mais interessante do que a realidade horrível do presente. Ele suspirou ao começar a recolocar os objetos no engradado.
— Ainda não encontrei nenhum fóssil por aqui... Nada realmente antigo... Mas nunca se sabe a sorte que se vai ter — disse ele, olhando pensativamente os túneis ramificados. — É aí que está a emoção.
Capítulo Cinco
Dr. Burrows assoviava, balançando a pasta ao ritmo de seu andar animado. Ele virou a esquina às seis e meia da noite, precisamente como sempre fazia, e sua casa entrou no campo de visão. Era uma entre as muitas casas que se espremiam na avenida Broadlands, caixas de tijolos com espaço suficiente para uma família de quatro pessoas. A única compensação era que este lado da rua dava fundos para um terreno baldio, então, pelo menos a casa tinha vista para um grande espaço aberto, mesmo que fôssemos obrigados a vê-lo dos cômodos em que mal cabia um camundongo, que dirá um gato.
Ao entrar e ficar parado no hall, pegando os livros velhos e revistas de sua pasta, seu filho não estava muito atrás. Numa velocidade estonteante, Will entrou na avenida Broadlands com sua bicicleta, a pá cintilando à primeira luz avermelhada dos postes de rua recém-acesos. Ele costurou com habilidade entre as faixas brancas no meio da rua e inclinou como louco ao se lançar ao portão aberto, os freios chegando a um guincho crescente ao parar sob a garagem aberta. Ele desmontou, trancou a bicicleta e entrou na casa.
Will era o tipo de garoto que precisava de espaço. Conseqüentemente, raras vezes era visto em casa, a não ser nos horários das refeições e para dormir, tratando-a como um hotel, como faziam tantos da idade dele. O único problema com seu desejo constante de ficar ao ar livre era que, como não podia ficar exposto à luz do sol por muito tempo, ele era efetivamente obrigado a ir para o subsolo em todas as oportunidades que tinha. E é claro que ele não se importava com isso.
— Oi, pai — disse ele ao pai, que agora estava postado desajeitadamente na sala de estar, ainda segurando a pasta aberta em uma das mãos e vendo alguma coisa na televisão.
Dr. Burrows era inquestionavelmente a maior influência na vida do filho. Um comentário fortuito ou a menor informação do pai podia inspirar Will a se meter nas “investigações” mais loucas e mais radicais, em geral envolvendo uma quantidade absurda de escavações. Dr. Burrows sempre conseguiu estar presente em qualquer das escavações do filho se desconfiasse de que poderia haver alguma coisa de verdadeiro valor arqueológico, mas na maior parte do tempo preferia enterrar o nariz nos livros que mantinha no porão, no porão dele. Ali, ele podia fugir da vida familiar, perdendo-se em devaneios com templos gregos e coliseus romanos ecoantes.
— Ah, sim, olá, Will — respondeu, distraído, depois de uma longa pausa, ainda absorto na televisão. Will passou pelo pai até onde a mãe estava sentada, igualmente hipnotizada pelo programa.
— Oi, mãe — disse e depois saiu, sem esperar por uma resposta.
Os olhos da sra. Burrows estavam grudados em eventos carregados e inesperados no asilo de idosos.
— Olá — respondeu ela, por fim, embora o filho já tivesse deixado a sala.
Os pais de Will se conheceram na universidade, quando a sra. Burrows era uma animada estudante de mídia, determinada a seguir carreira na televisão.
Infelizmente, naquele tempo a televisão preenchia sua vida por um motivo completamente diferente. Ela a via com uma devoção quase fanática, fazendo malabarismos com dois gravadores de vídeo quando seus programas preferidos, e eles eram muitos, eram exibidos no mesmo horário.
Se tirássemos um instantâneo mental de uma pessoa, uma imagem que fosse a primeira a ser lembrada quando pensássemos nela, a da sra. Burrows seria dela deitada de lado em sua poltrona preferida, uma fila de controles remotos organizados no braço e os pés pousando em um banquinho encimado pelas páginas de televisão arrancadas dos jornais. Ali, ela ficava sentada, dia após dia, semana após semana, cercada de uma pilha desorganizada de fitas de vídeo, paralisada na luz bruxuleante da telinha, de vez em quando mexendo a perna para que todos soubessem que ainda estava viva. A sala, domínio dela, tinha móveis que viram dias melhores: um sortimento de cadeiras de madeira desiguais pintadas de roxo e turquesa, duas poltronas diferentes com o forro azul-escuro solto e desbotado e um sofá com braços puídos, móveis que ela e o dr. Burrows herdaram com o passar dos anos.
Como fazia toda noite, Will seguiu batido para a cozinha ou, mais especificamente, para a geladeira, e estava abrindo a porta ao falar, sem sequer olhar a outra pessoa no ambiente, embora reconhecesse sua presença.
— Oi, mana — disse ele. — O que temos para comer? Estou faminto.
— Ah, a criatura da lama voltou — disse Rebecca a ele. — Tive a estranha sensação de que você ia aparecer justo agora. — Ela fechou a porta da geladeira num baque para impedir o irmão de fuçar seu interior e, antes que ele tivesse a chance de reclamar, meteu uma embalagem vazia nas mãos dele. — Frango agridoce, com arroz e um vegetal qualquer. Estava em promoção no supermercado, leve-dois-e-pague-um.
Will olhou a foto na embalagem e, sem comentar, devolveu a ela.
— E como está indo a última escavação? — perguntou Rebecca, exatamente quando o microondas apitava.
— Não muito bem... Nós chegamos a uma camada de arenito.
— Nós? — Rebecca o olhou indagativamente enquanto pegava um prato no microondas. — Tenho certeza de que acaba de dizer nós, Will. Não está me dizendo que o papai está trabalhando com você, né? Não durante o horário do museu.
— Não, o Chester, da escola, está me dando uma mãozinha.
Rebecca acabara de colocar um segundo prato no microondas e por muito pouco prendeu os dedos na porta ao fechá-la.
— Quer dizer que realmente convidou alguém para te ajudar? Bom, isso é mesmo uma novidade. Pensei que não confiasse em ninguém com seus “projetos”.
— Não, em geral não confio, mas o Chester é legal — respondeu Will, meio confuso com o interesse da irmã. — Ele foi de uma ajuda e tanto.
— Não posso dizer que o conheço bem, a não ser que é chamado de...
— Sei exatamente do que ele é chamado — Will a interrompeu asperamente.
Com doze anos, Rebecca era dois anos mais nova do que Will e não podia ser mais diferente dele; ela era magra e delicada para a idade, ao contrário do irmão, de uma estatura mais atarracada. E com o cabelo preto e a pele clara, o sol não a incomodava, mesmo no auge do verão, enquanto a pele de Will começava a ficar vermelha e a arder em questão de minutos.
Sendo os dois tão completamente diferentes, não só na aparência mas também no temperamento, sua vida em casa tinha certo ar de trégua in-tranqüila e cada um deles só demonstrava uma curiosidade passageira pelos interesses do outro.
Também não havia as saídas em família que se poderia esperar, porque o dr. e a sra. Burrows também tinham gostos totalmente divergentes. Will ia com o pai nas expedições — um destino habitual era a costa sul, sendo Lyme Regis um franco favorito, onde eles procuravam fósseis, percorrendo a praia em busca de aterros recentes.
Rebecca, por outro lado, arranjava-se sozinha nas férias, viajando regularmente — para onde, ou para fazer o quê, Will não sabia nem se importava em saber. E nas raras ocasiões em que a sra. Burrows se aventurava para fora de casa, só andava pelas lojas de West End ou via os filmes mais recentes.
Esta noite, como acontecia na maioria das noites, os Burrows estavam sentados com a refeição no colo vendo uma comédia da década de 1970, repetida com freqüência, que o dr. Burrows parecia gostar. Ninguém falou durante a refeição, a não ser a sra. Burrows, que a certa altura murmurou “Meu Deus... isso é bom”, que pode ter sido um elogio à comida de microondas ou possivelmente ao final do programa datado, mas ninguém fez o esforço de perguntar.
Depois de comer apressadamente, Will saiu da sala sem dizer nada, colocando a bandeja na pia da cozinha antes de subir a escada, agarrado a um saco de lona com objetos recém-descobertos. Dr. Burrows foi o próximo a sair, entrando na cozinha, onde depositou sua bandeja na mesa. Embora ainda não tivesse acabado de comer, Rebecca seguiu de perto, atrás dele.
— Pai, algumas contas precisam ser pagas. Os cheques estão na mesa.
— Temos dinheiro suficiente na conta? — perguntou ele ao rabiscar sua assinatura em um dos cheques, sem sequer se dar ao trabalho de ler as quantias.
— Eu te disse na semana passada, consegui uma transação melhor no seguro da casa. Nos poupou alguns centavos no prêmio.
— Está bem... Muito bom. Obrigado — disse o dr. Burrows, pegando a bandeja e virando-se decidido para a lava-louças.
— Deixe aí do lado — disse Rebecca meio rápido demais, parando protetoramente diante da lava-louças. Só na semana passada ela o pegou tentando programar seu amado microondas esmurrando furiosamente os botões em seqüências ao acaso, como se procurasse decifrar um código secreto. Desde então, ela tratou de tirar das paredes as tomadas dos principais eletrodomésticos.
Enquanto o dr. Burrows saía da sala, Rebecca colocou os cheques em envelopes e se sentou para preparar uma lista de compras para o dia seguinte. Na tenra idade de doze anos, ela era o motor, a usina de força por trás do lar dos Burrows. Assumia sozinha não só as compras, mas também a organização das refeições, a supervisão da faxineira e fazia quase todo o resto que, numa casa comum, seria de responsabilidade dos pais.
Afirmar que Rebecca era meticulosa seria dizer muito pouco. Um esquema no quadro de avisos da cozinha relacionava todas as provisões de que precisaria com pelo menos quinze dias de antecedência. Ela rotulava cuidadosamente as pastas de contas da família e da situação financeira em um dos armários da cozinha. E esta operação tranqüila dos cuidados domésticos só começava a falhar quando Rebecca estava ausente. Neste caso os três, o dr. e a sra. Burrows e Will, viviam da comida que Rebecca deixava para eles no freezer, servindo-se quando tinham vontade, com a delicadeza de um bando de lobos num saque. Depois destas ausências, Rebecca simplesmente voltava e colocava a casa em ordem outra vez sem protestar, como se aceitasse que seu destino fosse arrumar a bagunça dos outros membros de sua família.
De volta à sala, a sra. Burrows agitou o controle remoto para começar sua maratona noturna de novelas e programas de entrevista enquanto Rebecca limpava a cozinha. Às nove horas, ela concluíra suas tarefas e, sentada à altura do meio da mesa, a parte que não estava tomada dos numerosos vidros de café sobre os quais o dr. Burrows prometera tomar alguma providência, ela terminou seu dever de casa. Decidindo que estava na hora de dormir, pegou uma pilha de toalhas limpas e subiu com elas debaixo do braço. Ao passar pelo banheiro, teve que parar ao olhar para dentro por acaso. Will estava ajoelhado no chão, admirando os novos achados e lavando a terra deles com a escova de dente do dr. Burrows.
— Olha só isso! — disse ele orgulhoso enquanto erguia uma pequena bolsa feita de couro apodrecido, que gotejava água suja por toda parte. Ele abriu a aba frágil de seu prêmio com toda delicadeza e tirou uma série de cachimbos de barro. — Em geral só achamos as peças isoladas... pedaços que os lavradores largaram. Mas olha só isto aqui. Não tem nenhum que-brado. Estão perfeitos como no dia em que foram feitos... pense só nisso... todos esses anos... no século XVIII.
— Lindo — disse Rebecca, sem a mais vaga sugestão de interesse. Sacudindo o cabelo com desdém, ela continuou a atravessar o patamar da escada até o armário, em que colocou as toalhas, e depois entrou no quarto, fechando a porta firmemente.
Will suspirou e reassumiu a análise de seus achados por vários minutos, depois reuniu-os no tapete sujo de lama do banheiro e os levou com cuidado para o quarto. Ali, ele arrumou pensativamente os cachimbos e a bolsa de couro ainda ensopada ao lado de seus muitos outros tesouros nas prateleiras que cobriam completamente a parede do quarto — seu museu, como ele chamava.
O quarto de Will ficava nos fundos da casa e deviam ser duas horas da manhã quando ele foi despertado por um som. Vinha do jardim.
— Um carrinho de mão? — disse ele, identificando de imediato ao abrir os olhos. — Um carrinho de mão carregado? — Ele tropeçou para fora da cama e foi até a janela. Ali, na luz da meia-lua, pôde distinguir uma forma vaga empurrando um carrinho de mão pelo passadiço. Ele semicerrou os olhos, tentando ver melhor.
— Pai! — disse ele a si mesmo ao reconhecer os traços do dr. Burrows e ver o brilho da lua em seus conhecidos óculos. Aturdido, Will viu o pai chegar ao final do jardim e passar pelo buraco na sebe, depois sair para o terreno baldio. Ali, Will o perdeu de vista atrás de algumas árvores.
— O que é que ele está aprontando? — murmurou Will consigo mesmo. Dr. Burrows tinha horários estranhos graças a suas sonecas freqüentes no museu, mas este nível de atividade era anormal para ele.
Will se lembrou de que no início do ano ajudou o pai a escavar e baixar o piso do porão em quase um metro, e depois depositar uma nova camada de concreto para aumentar a altura dali. E mais ou menos um mês depois, o dr. Burrows teve a brilhante idéia de cavar uma saída do porão para o jardim e colocar uma porta nova já que, por um motivo qualquer, decidira que precisava de outros meios de entrar em seu santuário na base da casa. Pelo que Will sabia, o trabalho terminara ali, mas seu pai podia ser imprevisível. O garoto sentiu uma pontada de ressentimento — o que o pai estava fazendo de tão sigiloso e por que não pedira sua ajuda?
Ainda grogue de sono e distraído pelos pensamentos em seus próprios projetos nos subterrâneos, Will tirou o assunto da cabeça por ora e voltou para a cama.
Capítulo Seis
No dia seguinte, depois da aula, Will e Chester reassumiram seu trabalho na escavação. Will voltava após se desfazer do entulho, o carrinho de mão abarrotado de baldes vazios enquanto ele virava para a extremidade do túnel, onde Chester golpeava a parede de pedra.
— Como está indo? — perguntou-lhe Will.
— Não está ficando mais fácil, disso eu tenho certeza — respondeu Chester, enxugando o suor da testa com a manga suja e emporcalhando de terra a própria cara.
— Pare um pouco, me deixa dar uma olhada. Faça uma pausa.
— Tudo bem.
Will apontou a lanterna do capacete para a superfície rochosa, os tons sutis de amarelo e marrom dos estratos cinzelados aleatoriamente pela ponta da picareta, e suspirou alto.
— Acho melhor a gente parar e pensar um pouco nisso. Não tem sentido bater a cabeça numa parede de arenito! Vamos beber alguma coisa.
— É, boa idéia — disse Chester com gratidão.
Eles foram para a câmara principal, onde Will passou uma garrafa de água a Chester.
— Que bom que você quis fazer mais um pouco disso. É viciante, né? — disse ele a Chester, que encarava à meia distância.
Chester olhou para ele.
— Bom, sim e não. Eu disse que ia te ajudar a passar pela pedra, mas agora não tenho muita certeza. Meus braços doeram muito ontem à noite.
— Ah, você vai se acostumar e, além de tudo, você nasceu para isso.
— Você acha mesmo? De verdade? — Chester ficou radianre.
— Não tenho dúvida nenhuma. Um dia você pode ser tão bom quanto eu!
Chester lhe deu um soco de brincadeira no braço e eles riram, mas seu riso esmaeceu quando a expressão de Will ficou séria.
— Que foi? — disse Chester.
— Vamos ter que repensar isso. O veio de arenito pode ser espesso demais para ser ultrapassado. — Will entrelaçou os dedos e pousou as mãos no alto da cabeça, uma afetação que pegara do pai. — O que você acha de... de passar por baixo dela?
— Por baixo? Não vai nos levar fundo demais?
— Não, já fui mais fundo antes.
— Quando?
— Alguns túneis meus desceram muito mais do que este disse Will, esquivando-se. — Olha só, se cavarmos por baixo, podemos usar o arenito, como camada sólida, como teto do novo túnel. Talvez nem precisemos usar nenhuma escora.
— Sem escoras? — perguntou Chester.
— Vai ficar perfeitamente seguro.
— E se não ficar? E se desabar com a gente embaixo? — Chester aparentava uma infelicidade evidente.
— Você se preocupa demais. Vem, vamos continuar com isso! — Will já havia se decidido e começava a descer o túnel quando Chester o chamou.
— Ei, por que estamos arrebentando nossas costas... Quer dizer, tem alguma coisa em alguma planta sua? Qual é o sentido?
Will ficou muito confuso com a pergunta e levou vários segundos para responder.
— Não, não há nada marcado nos mapas do arquivo de papai nem nos levantamentos militares — admitiu ele. Ele respirou fundo e se virou para Chester. — O sentido é a escavação.
— Então acha que tem alguma coisa enterrada lá? — perguntou Chester rapidamente. — Como os troços naqueles aterros sanitários velhos de que você andou falando?
Will sacudiu a cabeça.
— Não. É claro que os achados são ótimos, mas isto é muito mais importante. — Ele agitou a mão de um jeito extravagante.
— O quê?
— Tudo isso! — Will correu os olhos pelas laterais do túnel e depois para o teto. — Não sente? A cada golpe da pá, é como se voltássemos no tempo. — Ele se interrompeu, sorrindo para si mesmo. — Aonde ninguém foi por séculos... Ou talvez nunca tenha ido.
— Então não tem idéia do que há lá? — perguntou Chester.
— Nenhuma, mas não estou disposto a deixar que um pouco de arenito me derrote — respondeu Will, resoluto.
Chester ainda estava atarantado.
— É só que... Eu estava pensando, se não vamos chegar a nada em particular, por que não trabalhamos no outro túnel?
Will sacudiu a cabeça de novo, mas não deu mais nenhuma explicação.
— Mas seria muito mais fácil — disse Chester, um tom exasperado invadindo sua voz, como se soubesse que não ia conseguir uma resposta sensata de Will. — Por que não?
— Um pressentimento — disse Will subitamente, e desceu o túnel antes que Chester pudesse pronunciar outra palavra. Ele deu de ombros e pegou a picareta.
— Ele é maluco. E eu devo ser maluco também. Mas o que é que estou fazendo aqui? — murmurou ele para si mesmo. — Podia estar em casa, agora mesmo... no PlayStation... aquecido e seco. — Ele olhou as roupas ensopadas de lama. — Maluco desgraçado! — repetiu ele várias vezes.
O dia do dr. Burrows era o mesmo de sempre. Ele estava reclinado suntuosamente em sua cadeira de dentista com um jornal dobrado no colo, prestes a cair na soneca pós-chá, quando a porta do museu se abriu num rompante. Joe Carruthers, ex-major de Sua Majestade, entrou decidido e varreu a sala com os olhos até localizar o dr. Burrows, cuja cabeça balançava sonolenta na cadeira de dentista.
— Atenção, Burrows! — berrou ele, quase sentindo prazer na reação do dr. Burrows quando sua cabeça deu um arranco para cima. Joe Carruthers, um veterano da Segunda Guerra Mundial, nunca perdeu o porte e a brusquidão de militar. Dr. Burrows até lhe dera o apelido pouco gentil de “Joe Abacaxi”, devido a seu nariz incrivelmente vermelho e bulboso, possivelmente resultado de um ferimento de guerra ou, como às vezes especulava o dr. Burrows, mais provavelmente devido ao consumo de uma quantidade excessiva de gim. Ele era surpreendentemente vivaz para um homem em seus setenta anos e tendia a ladrar alto. Era a última pessoa que o dr. Burrows queria ver agora.
— Desmonte, Burrows, preciso que venha reconhecer uma coisa para mim, se tiver um minuto. É claro que tem, vejo que não está ocupado agora, não é verdade?
— Ah, não, desculpe, sr. Carruthers, não posso deixar o museu desassistido. Afinal, estou de serviço — disse o dr. Burrows preguiçosamente, relutando em abandonar os últimos vestígios de sono.
Joe Carruthers continuou a berrar com ele do outro lado do salão do museu.
— Vamos, homem, este é um serviço especial, compreende? Quero sua opinião. Minha filha e o marido novo compraram uma casa perto da High Street. Depois de uma reforma na cozinha, eles descobriram uma coisa... uma coisa estranha.
— Estranha como? — perguntou o dr. Burrows, ainda aborrecido com a intrusão.
— Um buraco estranho no chão.
— Não é trabalho para os pedreiros?
— Não é esse tipo de coisa, meu velho. Não é esse tipo de coisa mesmo.
— Por quê? — perguntou o dr. Burrows, agora curioso.
— É melhor vir e dar uma olhada você mesmo, meu velho. Quero dizer, você sabe tudo de história por aqui. Pensei em você de imediato. O melhor homem para a tarefa, eu disse a minha Penny. Este camaradinha realmente entende dessas coisas, eu disse a ela.
Dr. Burrows apreciava a idéia de que era considerado o especialista em história na cidade, então, se levantou e vestiu cheio de empáfia o paletó. Depois de fechar o museu, acompanhou a marcha forçada de Joe Abacaxi pela High Street e eles logo chegaram à Jekyll Street. Joe Abacaxi só falou uma vez quando eles viraram outra esquina, entrando na Martineau Square.
— Aqueles cães malditos... As pessoas não deviam deixar que corressem soltos desse jeito — grunhiu ele ao ver alguns papéis voando na rua ao longe. — Deviam andar numa trela. — Eles haviam chegado na casa.
O número 23 era uma casa com varanda, em nada diferente de todas as outras que ladeavam as quatro faces da praça, construída com tijolos com as típicas características georgianas. Embora cada propriedade fosse bem estreita, com apenas uma lasca de jardim nos fundos, dr. Burrows as observava nas poucas ocasiões em que por acaso estava na região e lhe agradava a oportunidade de ver uma delas por dentro.
Joe Abacaxi martelou a porta georgiana original de quatro painéis com força suficiente para cavar um buraco e o dr. Burrows estremeceu a cada golpe. Uma jovem atendeu à porta, a cara iluminando-se ao ver o pai.
— Oi, pai. Então o senhor o trouxe. — Ela se virou para o dr. Burrows com um sorriso constrangido. — Venham à cozinha. Está meio bagunçada, mas vou colocar a chaleira no fogo — disse ela, fechando a porta após a entrada dos dois homens.
Dr. Burrows seguiu Joe Abacaxi enquanto ele pisava duro pelas tábuas empoeiradas do corredor escuro, onde o papel de parede havia sido arrancado.
Na cozinha, a filha de Joe Abacaxi virou-se para o dr. Burrows.
— Desculpe, que grosseria a minha, eu nem me apresentei. Meu nome é Penny Hanson... Acho que já nos conhecemos. — Ela enfatizou o novo sobrenome com orgulho. Por um momento incômodo, o dr. Burrows pareceu tão completamente pasmo com a sugestão de que ela corava de constrangimento que Penny rapidamente murmurou alguma coisa sobre fazer um chá, enquanto ele, indiferente ao desconforto dela, começava a inspecionar a cozinha. Havia sido estripada e o reboco fora retirado, revelando os tijolos nus, e havia uma nova pia instalada com módulos de armário semi-acabados de um lado.
— Achamos que foi uma boa idéia retirar a chaminé para nos dar espaço para um balcão de café-da-manhã ali — disse Penny, apontando a parede oposta à dos módulos novos. — O arquiteto disse que só precisamos de uma escora no teto. — Ela indicou um buraco onde o dr. Burrows podia ver que fora acomodada um nova estaca de metal. — Mas quando os pedreiros derrubavam os tijolos velhos, a parede de trás desabou e eles encontraram isso. Liguei para o nosso arquiteto, mas ele ainda não retornou meu telefonema.
Na parte de trás da lareira, uma pilha de tijolos sujos de fuligem indicava onde estivera a parede da fornalha. Com a retirada dessa parede, um espaço considerável se revelara atrás, como um esconderijo.
— Isso não é comum. Um segundo cano de chaminé? — disse ele para si mesmo, quase imediatamente pronunciando uma série de nãos ao sacudir a cabeça. Ele se aproximou e olhou para baixo. No chão, havia uma abertura de quase meio metro de largura.
Colocando-se entre os tijolos soltos, ele se agachou na beira da abertura, espiando dentro dela.
— Ah... tem uma lanterna à mão? — perguntou ele. Penny conseguiu uma. Dr. Burrows a pegou da mão dela e a acendeu na abertura. — Forro de tijolos, do início do século XVIII, eu me arriscaria a dizer. Parece ter sido construído na mesma época da casa — murmurou ele consigo mesmo enquanto Joe Abacaxi e sua filha o observavam com atenção. — Mas para que servem estas porcarias? — acrescentou ele. O estranho era que, ao se inclinar e olhar embaixo, ele não conseguia ver onde terminava. — Já testou a profundidade disso aqui? — perguntou ele a Penny, endireitando-se.
— Com o quê? — respondeu ela, simplesmente.
— Posso usar isso? — Dr. Burrows pegou um tijolo quebrado na pilha de entulho da parede desabada. Ela assentiu, ele se voltou para o buraco e parou, pronto para largar o tijolo.
— Agora ouçam — disse-lhes ele ao soltar o tijolo na abertura. Eles o ouviram bater nas laterais ao cair, os sons tornando-se cada vez mais baixos até que só chegaram ecos fracos ao dr. Burrows, que agora estava ajoelhado na abertura.
— Mas ele... — começou Penny.
— Shhhh! — sibilou o dr. Burrows sem nenhuma educação, sobressaltando-a ao erguer a mão. Depois de um minuto, ele levantou a cabeça e franziu o cenho para Joe Abacaxi e Penny. — Não ouvi parar — observou ele —, mas pareceu levar séculos quicando nas laterais. Como é... como pode ser tão profundo? — Depois, aparentemente sem se importar com a sujeira, ele se deitou no chão e enfiou a cabeça e os ombros no buraco até onde pôde, sondando a escuridão abaixo com a lanterna em seu braço esticado. De repente ficou paralisado e começou a fungar alto.
— Não pode ser!
— O que é, Burrows? — perguntou Joe Abacaxi. — Tem algo a dizer?
— Posso estar enganado, mas eu poderia jurar que há certa corrente de ar — disse o dr. Burrows, tirando a cabeça do buraco. — Por que seria assim, simplesmente não sei... a não ser que todo o terraço tenha sido construído com um sistema de ventilação entre cada casa. Mas nem em toda minha vida eu poderia imaginar por que fariam desse jeito. O mais curioso é que o duto... ele rolou de costas e apontou a lanterna para cima, no alto do buraco — ... parece subir, logo atrás da chaminé normal. Suponho que também se abre como parte da chaminé, no telhado?
O que o dr. Burrows não disse a eles — não ousou dizer, porque teria parecido esquisito demais — é que tinha sentido de novo o cheiro peculiar de bolor: o mesmo cheiro que percebera ao se chocar com o homem-de-chapéu no dia anterior, na High Street.
No túnel, Will e Chester enfim faziam algum progresso. Estavam cavando a terra abaixo do arenito quando a picareta de Will atingiu alguma coisa sólida.
— Droga! Não me diga que a pedra desce por aqui também! — gritou ele, exasperado. Chester de imediato largou o carrinho de mão e veio correndo da câmara principal.
— Qual é o problema, Will? — perguntou ele, surpreso com a explosão do amigo.
— Droga! Droga! Droga! — disse Will, golpeando violentamente o obstáculo com a picareta.
— Que foi? O que é? — gritou Chester. Ele estava chocado. Nunca vira Will perder a frieza desse jeito; ele parecia estar possuído.
Will aumentou o ataque com a picareta, trabalhando num ritmo febril ao atingir desvairadamente a face rochosa. Chester foi obrigado a recuar para evitar os movimentos de Will e as torrentes de terra e pedra que ele atirava para trás.
De repente, Will parou e caiu em silêncio por um momento. Depois, atirando a picareta de lado, ajoelhou-se para arranhar freneticamente alguma coisa diante dele.
— Bom, olha só isso!
— Olhar o quê?
— Veja você mesmo — disse Will, sem fôlego.
Chester se agachou e viu o que empolgava tanto o amigo. De onde Will retirara a terra, havia várias fileiras de tijolos visíveis sob a camada de arenito e ele já soltara uma das primeiras.
— Mas e se for um túnel de esgoto ou da ferrovia, ou alguma coisa assim? Tem certeza de que podemos fazer isso? — perguntou Chester, ansioso. — Pode ter alguma coisa a ver com o abastecimento de água. Não estou gostando!
— Calma, Chester, não há nada nos mapas daqui. Estamos nos limites da cidade velha, não é?
— É — respondeu Chester hesitante e inseguro das intenções do amigo.
— Bom, não construíram nada nos últimos cem ou cento e cinqüenta anos... Então, é improvável que por aqui haja um túnel de trem, mesmo esquecido. Revisei todos os mapas antigos com meu pai. Acho que pode ser de esgoto, mas se você olhar a curvatura do tijolo no encontro com o arenito, então devemos estar no topo dele. Pode ser a parede do porão de uma casa antiga... Ou talvez algumas fundações, mas como é que foi construído debaixo do arenito? Muito estranho.
Chester deu alguns passos para trás e não disse nada, então, Will reassumiu os esforços por alguns minutos e depois parou. Ciente de que o amigo ainda vagava nervoso atrás dele, Will se virou e soltou um suspiro resignado.
— Olha, Chester, se isso te deixa feliz, vamos parar por hoje e vou falar com meu pai esta noite. Ver o que ele acha.
— É, acho melhor mesmo, Will. Sabe como é... só por segurança.
Dr. Burrows se despediu de Joe Abacaxi e de sua filha, prometendo descobrir o que pudesse sobre a casa e sua arquitetura no arquivo municipal. Ele olhou o relógio e fez uma careta. Sabia que não tinha o direito de deixar o museu fechado por tanto tempo, mas queria ver uma coisa antes de voltar.
Ele andou pela praça várias vezes, examinando as casas com varanda dos quatro lados. Toda a praça fora construída na mesma época e as casas eram idênticas. Mas o que o interessava era a idéia de que todas pudessem ter dutos misteriosos correndo por elas. Ele atravessou a rua e passou pelo portão até o meio da praça, que tinha em seu centro uma área pavimentada, cercada de algumas roseiras esquecidas. Aqui ele teve uma visão melhor dos telhados e ele apontou ao tentar contar exatamente quantas chaminés havia em cada uma delas.
— Isso não faz sentido. — Ele franziu a testa. — É mesmo muito peculiar.
Ele se virou, saiu da praça e, voltando ao museu, chegou a tempo de encerrar as atividades do dia.
Capítulo Sete
De madrugada, Rebecca olhou de uma janela no segundo andar enquanto uma figura indistinta vagava pela calçada na frente da casa dos Burrows. A figura, com as feições obscurecidas por um capuz e um boné, comportava-se mais como uma raposa do que como gente. Satisfeito por não estar sendo observado, ele foi até os sacos de lixo e, segurando o mais volumoso, abriu um buraco e rapidamente começou a vasculhar o conteúdo com as duas mãos.
— Acha mesmo que sou tão idiota? — sussurrou Rebecca, o hálito embaçando o vidro da janela do quarto. Ela não estava nem um pouco preocupada. Seguindo os alertas sobre ladrões de identidade na área de Highfield, ela destruía incansavelmente qualquer carta oficial, cartão de crédito ou extratos bancários — na verdade tudo o que contivesse informações pessoais da família.
Na pressa de encontrar alguma coisa, o homem tirava o lixo do saco. Latas vazias, embalagens de comida e uma série de garrafas foram atiradas no gramado da frente. Ele pegou um punhado de papéis e os segurou perto do rosto, girando-os no punho ao examiná-los sob a fraca luz da rua.
— Vai — ela desafiou o porcalhão. — Faça o pior que puder!
Limpando com a mão a gordura e uma mancha de pó de café de uma folha, ele girou para poder ver com mais clareza sob o poste.
Rebecca observava enquanto ele lia febrilmente a carta, depois sorriu ao perceber que era inútil. Ele tensionou o braço num gesto de nojo e o atirou no chão.
Para Rebecca, já bastava. Estivera curvada no peitoril da janela, mas agora se endireitou, puxando as cortinas.
O homem percebeu o movimento e ergueu a cabeça. Ele a viu e ficou paralisado, e depois, girando para verificar os dois lados da rua de novo, partiu, olhando para Rebecca como se a desafiasse a chamar a polícia.
Rebecca cerrou os pequenos punhos, furiosa, sabendo que seria ela quem teria que limpar a sujeira de manhã. Mais uma tarefa tediosa a entrar para sua lista!
Ela fechou as cortinas, recuou da janela e foi para seu quarto. Ali, ela parou, escutando; havia vários roncos em staccato. Rebecca virou os pés com chinelos para a porta do quarto principal, reconhecendo de imediato o som familiar. A sra. Burrows dormia. Na calmaria que se seguiu, ela escutou com mais atenção até poder discernir a respiração nasal e longa do dr. Burrows, depois tombou a cabeça para o quarto de Will, atenta novamente até ouvir o ritmo da respiração mais superficial e mais rápida do irmão.
— Sim — sussurrou ela, atirando exultante a cabeça para trás. Todos estavam em sono profundo. Ela se tranqüilizou de imediato. Agora era a hora dela, quando tinha a casa só para si e podia fazer o que ela quisesse. Uma hora de calma antes de eles acordarem e o caos recomeçar. Ela atirou os ombros para trás e foi silenciosamente até a soleira da porta do quarto de Will para olhar.
Nada se mexia. Como uma sombra flutuando pelo quarto ela andou rapidamente até o lado da cama dele. Ali, ela parou, fitando-o. Ele dormia de costas, os braços esparramados de qualquer jeito acima da cabeça. Sob a fraca luz da lua filtrada pelas cortinas semifechadas, ela analisou seu rosto. Chegou mais perto até se curvar sobre ele.
“Bom, olhe só para ele, nenhuma preocupação no mundo”, pensou ela, e inclinou-se ainda mais sobre a cama. Ao fazer isso, percebeu uma mancha fraca sob o nariz de Will.
Seus olhos varreram o rapaz inconsciente até que pararam nas mãos.
“Lama!”, estavam cobertas de lama. Ele não se dera o trabalho de lavar-se antes de ir para a cama e, ainda mais revoltante, deve ter coçado o nariz dormindo.
— Seu porco imundo — sibilou ela. Foi o suficiente para perturbá-lo, e ele esticou os braços e flexionou os dedos. Ditosamente inconsciente da presença da irmã, ele soltou um ruído gutural baixo e contido, mexendo um pouco o corpo ao se acomodar novamente.
— Você é um desperdício total de espaço — sussurrou ela por fim, depois, se virou para onde ele atirara as roupas sujas no chão. Ela as reuniu nos braços e saiu do quarto, indo para o cesto de vime que abrigava a roupa suja num canto do patamar da escada. Procurando dentro de todos os bolsos enquanto enfiava as roupas em trouxa no cesto, ela encontrou um pedaço de papel no jeans, que desdobrou, mas não conseguiu ler na luz fraca. Talvez seja só lixo, pensou ela, colocando-o na camisola. Ao retirar a mão do bolso, ela prendeu a unha no material acolchoado. Rebecca roeu pensativamente a ponta áspera e foi para o quarto principal. Lá dentro, certificou-se de colocar os pés exatamente nas áreas em que o piso sob o carpete velho e puído não estalava, para não trair sua presença.
Assim como havia observado Will, ela observou a sra. e o dr. Burrows, como se tentasse adivinhar seus pensamentos. Mas depois de vários minutos, Rebecca já vira o suficiente e pegou a caneca vazia na mesa-de-cabeceira da sra. Burrows, dando uma fungadela exploratória. Achocolatado de novo, com um toque de conhaque. Com a caneca na mão, Rebecca saiu do quarto na ponta dos pés e desceu até a cozinha, andando com facilidade no escuro. Colocando a caneca na pia, ela se virou e voltou ao corredor. Ali parou novamente, a cabeça inclinada um pouco de lado, os olhos fechados, escutando.
“Tão calmo... e tranqüilo”, pensou ela. “Devia ser sempre assim.” Como alguém em transe, ela continuou parada ali, sem se mexer, até que, por fim, respirou fundo pelo nariz, prendeu a respiração por alguns segundos, depois soltou o ar pela boca.
Ouviu uma tosse abafada no segundo andar. Rebecca olhou ressentida para a escada. Seu momento fora perturbado, os pensamentos desintegrados.
— Estou tão cansada de tudo isso — disse ela, amargurada.
Foi até a porta da frente, puxou a corrente de segurança e entrou na sala de estar. A cortina estava totalmente aberta, dando-lhe uma visão clara do quintal, raiado de trechos alternantes de luar prateado. Seus olhos não deixaram o cenário enquanto ela se abaixava na poltrona da sra. Burrows, acomodando-se ao continuar a olhar o quintal e a cerca que o separava do terreno baldio. E ali ela ficou, apreciando a solidão da noite, oculta pela escuridão de chocolate, até amanhecer. Olhando.
Capítulo Oito
No dia seguinte, o dr. Burrows estava no museu, arrumando o armário de botões sob a janela. Estava curvado sobre o mostruário, acrescentando alguns botões de bronze esverdeado do exército, recém-adquiridos de vários regimentos, em filas erráticas de botões de plástico, madrepérola e esmalte. Estava ficando muito impaciente porque, graças às alças nas costas dos botões, eles não ficavam deitados no quadro revestido de baeta, por mais que os apertasse para baixo. Ele soltou o ar com ruído e frustração e, ouvindo a buzina de um carro na rua, olhou para cima.
Pelo canto do olho, viu um homem andando do outro lado da rua. Vestia um chapéu achatado, um sobretudo e, embora o dia estivesse nublado, com apenas alguns vislumbres intermitentes de sol, óculos escuros. Podia muito bem ter sido o homem em quem ele esbarrara na frente da banca de jornal, mas ele não podia ter certeza, porque todos eram muito parecidos.
O que havia de tão irresistível nesta gente? Bem no seu íntimo, o dr. Burrows sentia que havia algo especial neles, algo decididamente incongruente. Era como se tivessem vindo direto de outra época, talvez da era georgiana, dado o estilo de suas roupas. Para ele, equivalia à descoberta de uma parte da história viva, como aqueles relatos que lia de pescadores asiáticos colhendo celacantos em redes, ou quem sabe algo ainda mais perturbador... A descoberta do “elo perdido” na evolução do homem. Estas eram as coisas que ocupavam seus devaneios e o distraíam de sua vida monótona e rotineira.
Sem jamais ter sido um homem que refreia suas obsessões, o dr. Burrows estava verdadeiramente fisgado. Deveria haver uma explicação racional para o fenômeno dos homens-de-chapéu e ele estava determinado a descobrir o que era.
— Muito bem — decidira ele —, esta é uma hora tão boa como qualquer outra.
Ele baixou a caixa de botões e correu pelo museu até a porta principal, fechando-a depois de passar. Ao sair à rua, localizou o homem à frente e, mantendo uma distância respeitável, seguiu-o pela High Street.
Dr. Burrows mantinha o mesmo ritmo do homem enquanto ele saía da High Street, entrava na Disraeli e atravessava a rua para pegar a primeira à direita, na Gladstone Street, passando pelo antigo convento. Estava uns vinte metros atrás quando o homem parou de repente, virou-se e olhou diretamente para ele.
Dr. Burrows sentiu um tremor de medo ao ver o céu refletido nos óculos do homem e, certo de que o jogo acabara, virou-se de pronto para a direção contrária. Sem saber o que faria a seguir, ele se abaixou e fingiu amarrar um cadarço imaginário no mocassim. Sem se levantar, olhou furtivamente por sobre o ombro, mas o homem desaparecera completamente.
Seus olhos procuraram frenéticos pela rua. Dr. Burrows começou a andar rapidamente, depois correu ao se aproximar do local em que tivera a última visão de sua presa. Chegando lá, descobriu que havia uma entrada estreita entre duas pequenas casas de caridade. Ficou meio surpreso por jamais as ter percebido em todas as vezes que passou por ali. Tinha uma abertura em arco que corria como um túnel estreito até passar por trás das casas, e depois continuava por uma curta distância, como uma travessa a céu aberto. Dr. Burrows espiou, mas com a pouca luz na passagem, era difícil ver muita coisa. Para além do trecho de escuridão, ele pôde distinguir algo no final: era um muro cortando inteiramente a travessa. Um beco sem saída.
Verificando a rua uma última vez, ele sacudiu a cabeça, sem acreditar. Não conseguia entender como o homem pôde ter sumido, desaparecendo abruptamente daquele jeito. Então, respirou fundo e partiu para a passagem. Andava com cautela, preocupado que o homem pudesse estar à espreita em uma soleira de porta que ele não via. À medida que seus olhos se adaptavam às sombras, pôde ver que havia caixas de papelão encharcadas e garrafas de leite, a maioria quebrada, espalhadas pelos paralelepípedos.
Ficou aliviado ao chegar à luz novamente e parou para ver o ambiente. O beco era formado por muros de jardim à esquerda e à direita, e era bloqueado na extremidade pela parede de uma fábrica de três andares. O pré-dio antigo não tinha janelas abaixo de seu andar mais alto e não podia ter proporcionado nenhuma rota de fuga ao homem.
Então, aonde diabos ele foi?, pensou o dr. Burrows ao se virar e olhar pelo beco, para a rua, onde um carro passava voando. À direita, o muro de jardim era encimado por uma treliça de um metro de altura e seria quase impossível o homem pular por ali. O outro muro não tinha esse obstáculo, então o dr. Burrows foi até lá e olhou por cima. Era uma espécie de jardim, descuidado e estéril, com alguns arbustos murchos e um trecho de terra lamacenta onde deveria estar o gramado. Este era pontilhado de pratos desbotados de plástico contendo uma água verde-escura.
Dr. Burrows olhou desamparado a aridez privativa e estava prestes a esquecer a história toda quando mudou de idéia subitamente. Passou a pasta sobre o muro e subiu desajeitado nele. A queda era maior do que ele esperava e ele pousou mal, sentado, na lama. Tentou se levantar, mas seus sapatos perderam o ponto de apoio e ele caiu sentado novamente, a mão esticada conseguindo virar um dos pratos, espalhando seu conteúdo no braço e no pescoço. Ele xingou em silêncio, limpou-se como pôde e se levantou mais uma vez, cambaleando e oscilando como um bêbado até recuperar o equilíbrio.
— Droga, droga e droga! — disse ele, entre dentes, ao ouvir uma porta se abrir atrás.
— Olá! Quem está aí? — veio uma voz apreensiva.
Dr. Burrows girou e ficou de frente para uma senhora que estava parada a menos de dois metros, com três gatos a seus pés observando-o com uma indiferença felina. A visão da senhora aparentemente não era boa, a julgar pelo modo como movia a cabeça de um lado a outro. Tinha cabelos brancos e finos e vestia um roupão florido. Dr. Burrows imaginou que ela devia estar no final dos oitenta anos.
— É... Roger Burrows, prazer em conhecê-la — disse o dr. Burrows, sem conseguir pensar em nada que explicasse por que ou como viera parar ali. A expressão da senhora idosa se transformou de repente.
— Ah, dr. Burrows, que gentileza sua aparecer. Que surpresa agradável.
O próprio dr. Burrows ficou surpreso, para não falar meio confuso.
— Sim, é... bem... Por acaso eu estava passando por aqui.
— Muita cortesia sua. É uma coisa que não se vê ultimamente. É muito gentil de sua parte me visitar.
— É... de forma alguma — respondeu ele, hesitante. — O prazer é inteiramente meu.
— É meio solitário aqui, só com a companhia de meus gatos. Gostaria de tomar um chá? A chaleira está no fogo.
Dr. Burrows titubeou, tinha previsto uma saída rápida pelo muro quando viu a mulher. Esta recepção, com tal hospitalidade e calor humano, era a última coisa que esperava. Sem palavras, ele simplesmente assentiu e avançou, o sapato pisando na beira de outro prato de plástico, que virou o conteúdo em sua perna. Ele parou para retirar uma gosma de algas da meia.
— Ah, tenha cuidado, dr. Burrows — disse a senhora. — Eu coloco estes aí para os passarinhos. — Ela se virou, a comitiva de gatos disparando antes dela para a cozinha. — Leite e açúcar?
— Por favor — disse o dr. Burrows, parando do lado de fora da cozinha enquanto ela se atarefava lá dentro, pegando um bule de chá na prateleira.
— Desculpe por aparecer assim, sem avisar — disse o dr. Burrows, numa tentativa de preencher o silêncio. — Tudo isso é muito gentil de sua parte.
— Não, a gentileza é toda sua. Eu é que agradeço.
— É mesmo? — gaguejou ele, ainda tentando freneticamente deduzir quem exatamente era esta senhora idosa.
— Sim, por sua carta muito gentil. Não enxergo mais como antigamente, mas o sr. Embers a leu para mim.
De repente, tudo se encaixou e o dr. Burrows suspirou de alívio, a névoa de confusão desaparecendo na brisa fria da compreensão.
— A esfera cintilante! Sem dúvida é um objeto intrigante, sra. Tantrumi.
— Ah, que bom, meu caro.
— O sr. Embers deve ter lhe dito que preciso analisá-la.
— Sim — disse ela. — Não queremos que alguém se torne teleguiado, não é mesmo?
— Não — concordou o dr. Burrows, tentando não sorrir —, não queremos mesmo. Sra. Tantrumi, o motivo de minha visita...
Ela tombou a cabeça de lado, esperando ansiosa que ele continuasse, enquanto mexia o chá.
— ...bem, eu na verdade esperava que a senhora pudesse me mostrar onde a encontrou — terminou ele.
— Ah, não, meu caro, não fui eu... Foram os gasistas. Um bolo ou um pudim? — disse ela, erguendo uma lata de biscoitos amassada.
— É... bolo, por favor. A senhora dizia que os gasistas a encontraram?
— Eles encontraram. Bem por dentro do porão.
— Lá embaixo? — perguntou o dr. Burrows, olhando uma porta aberta para o porão, com um pequeno lance de escada. — Importa-se de eu dar uma olhada? — disse ele, colocando o bolo no bolso ao começar a andar pelos degraus de tijolos musgosos.
Do outro lado da porta, ele pôde ver que o porão era dividido em dois ambientes. O primeiro estava vazio, salvo por alguns pratos de comida de gato extremamente escura e dessecada, e por entulho solto pelo chão. Ele se espremeu pelo segundo ambiente, que ficava abaixo da frente da casa. Era muito parecido com o primeiro, só que a luz era mais fraca e havia vários móveis. Enquanto seus olhos percorriam o ambiente, ele viu um piano de parede num canto, dando a impressão de estar desmontando de umidade e, enfiado em um recesso escuro, um antigo guarda-roupa com um espelho quebrado. Ele abriu uma de suas portas e paralisou de imediato.
Dr. Burrows fungou várias vezes, reconhecendo o odor bolorento que sentira no homem na rua e mais recentemente no duto na casa de Penny Hanson. À medida que seus olhos se acostumavam com o escuro, ele pôde ver que o interior do guarda-roupa tinha vários sobretudos — pretos, pelo que podia dizer — e um sortimento de chapéus achatados e outros chapéus empilhados em um compartimento de um lado.
Extraordinariamente, o interior do armário não parecia arenoso ao toque, ao contrário de tudo nos arredores, que estava coberto de uma fina camada de poeira. Além disso, quando ele o afastou da parede para ver se havia alguma coisa por trás, o guarda-roupa em si pareceu estar numa boa forma surpreendente. Sem descobrir nada ali, ele voltou a atenção novamente para o interior. Abaixo do compartimento de chapéus, encontrou uma gavetinha, que abriu. Dentro, havia cinco ou seis pares de óculos. Pegando um deles e tirando um sobretudo do cabide, ele voltou ao jardim.
— Sra. Tantrumi — gritou ele do pé da escada. Ela gingou até a porta da cozinha. — Sabia que havia estas coisas em um guarda-roupa aqui embaixo?
— Havia, é?
— Sim, alguns casacos e óculos de sol. Eles pertencem à senhora?
— Não, eu mesma quase nunca desço lá. O chão é irregular demais. Poderia trazer aqui, para eu poder ver?
Ele foi até a porta da cozinha, ela estendeu a mão e passou os dedos no tecido do sobretudo como se afagasse a cabeça de um gato desconhecido. Pesado e ceroso ao toque, o casaco lhe pareceu estranho. O corte era antiquado, com uma ombreira de material pesado.
— Não posso dizer que tenha visto isto antes. Meu marido, que Deus o tenha, pode ter deixado lá embaixo — disse ela com desdém, e voltou à cozinha.
Dr. Burrows examinou os óculos escuros. Consistiam em duas lentes grossas e absolutamente planas, quase opacas, semelhantes a óculos de proteção de soldadores, com curiosos mecanismos de mola nas duas hastes, evidentemente para mantê-los presos na cabeça de seu usuário. Ele ficou desnorteado. Por que aquela gente estranha guardava seus pertences em um guarda-roupa esquecido de um porão vazio?
— Vem mais alguém aqui, sra. Tantrumi? — perguntou-lhe o dr. Burrows enquanto ela começava a servir o chá com a mão muito trêmula, o bico do bule batendo na xícara com tal violência que ele pensou que ia quebrá-la no pires.
Houve uma calmaria no matraquear enquanto ela parecia confusa.
— Não sei o que quer dizer — disse ela, como se o dr. Burrows estivesse sugerindo que ela fizera alguma coisa imprópria.
— É só que vi uns sujeitos estranhos nesta parte da cidade... sempre vestindo sobretudos e óculos de sol, como estes... — o dr. Burrows se interrompeu, já que a idosa parecia tão angustiada.
— Ah, espero que não sejam aqueles criminosos de que ouvimos falar. Não me sinto mais segura aqui... Mas meu amigo Oscar é muito gentil. Ele me visita quase todas as tardes. Veja o senhor, não tenho mais ninguém perto de mim, ninguém da família. Meu filho foi para a América. É um bom rapaz. Ele e a esposa foram transferidos pela empresa em que ele trabalha...
— Então a senhora não viu ninguém com estes sobretudos... Uns homens de cabelo branco?
— Não, meu caro, não posso saber do que está falando. — Ela olhou inquisitivamente para ele, depois voltou a servir o chá. — Venha para cá e sente-se.
— Só vou colocar isso no lugar — disse o dr. Burrows, voltando ao porão. Antes de sair, não pôde resistir a uma inspeção rápida no piano, levantando a tampa e batendo em algumas teclas, que produziram sons abafados ou metálicos, totalmente desafinados. Tentou afastá-lo da parede, mas o piano estalou e ameaçou desmontar, então ele parou. Depois, andou pelos dois ambientes do porão e bateu os pés no chão, esperando encontrar um alçapão. Fez o mesmo no pequeno jardim, batendo os pés no gramado, tentando evitar os pratos de plástico, sempre sendo observado com curiosidade pelos gatos da sra. Tantrumi.
Do outro lado da cidade, Chester e Will estavam de volta ao túnel das Quarenta Covas.
— E aí, o que foi que seu pai disse? O que ele acha que encontramos? — perguntou Chester enquanto Will usava uma marreta e um cinzel para soltar a argamassa entre os tijolos da estrutura desconhecida.
— Olhamos os mapas de novo e não havia nada neles. — Ele estava mentindo, porque o dr. Burrows não deixara o porão antes de Will ir para a cama e tinha saído de casa antes de Will acordar de manhã.
— Não tem dutos de água, nem de esgoto, nem nada neste lote — prosseguiu Will, tentando tranqüilizar Chester. — A parede de tijolos é muito sólida, sabe como é... Essa coisa foi construída para durar. — Will já havia removido duas camadas de tijolos, mas ainda não ultrapassara a parede. — Olha, se eu estiver errado sobre isso e alguma coisa jorrar, trate de ficar no lado mais distante da câmara principal. O fluxo deve arrastar você para a entrada — disse Will, redobrando os esforços nos tijolos.
— Como é? — perguntou Chester rapidamente. — Um fluxo... Me arrastando para cima? Não gosto nem um pouco disso. Estou fora. — Ele se virou para sair, parou como se estivesse indeciso, depois se decidiu e começou a andar para a câmara principal, murmurando consigo mesmo o tempo todo.
Will simplesmente deu de ombros. Não havia como parar, não com a possibilidade de poder esclarecer algum mistério fantástico, algo tão importante que desconcertaria seu pai e que ele descobrira sozinho. E ninguém ia impedi-lo, nem mesmo Chester. Ele imediatamente continuou a cinzelar outro tijolo, lascando a beira da argamassa.
De repente, parte da argamassa explodiu com um sibilo pneumático e um naco dela passou direto pelas mãos enluvadas de Will, como um projétil de pedra, batendo na parede do túnel atrás dele. Ele largou as ferramentas e caiu de costas no chão, atordoado. Sacudindo a cabeça, ele se recompôs e começou a tarefa de retirar o tijolo, que foi realizada em segundos.
— Ei, Chester — chamou Will.
— O que é? — gritou Chester, num rosnado, da câmara principal. — Que foi?
— Não tem água! — gritou Will a ele, a voz ecoando estranhamente. — Venha ver.
Chester refez, relutante, seus passos. Descobriu que Will na verdade penetrara na parede, e agora mantinha a cabeça alta na pequena fenda que fizera e farejava o ar.
— Sem dúvida não é um tubo de esgoto, mas estava sob pressão — disse Will.
— Pode ser um cano de gás?
— Não, não tem cheiro de gás e de qualquer forma nunca seria feito de tijolos. A julgar pelo eco, é um espaço bem grande. — Seus olhos cintilaram de expectativa. — Eu sabia que íamos conseguir alguma coisa. Pegue uma vela e a haste de ferro na câmara principal, por favor?
Quando Chester voltou, Will acendeu a vela a uma boa distância do buraco e a levou devagar até ele, aproximando-se aos poucos da abertura, observando a chama atentamente a cada passo que dava.
— O que isso faz? — perguntou Chester, olhando fascinado.
— Se houver gases, você vai perceber uma diferença no modo como queima — respondeu Will categoricamente. — Fizeram isso quando abriram as pirâmides. — A chama não teve seu brilho alterado enquanto ele a aproximava, depois a segurou diretamente diante da abertura. — Parece que está tudo bem — disse ele enquanto soprava a chama e pegava a haste que Chester encostara na parede do túnel. Alinhou a vara de três metros cuidadosamente com o buraco e em seguida a fez atravessar, empurrando-a o tempo todo até que só um pequeno pedaço se projetava por entre os tijolos.
— Não bateu em nada... É bem grande — disse Will animado, grunhindo do esforço ao verificar a profundidade, deixando que a ponta da haste balançasse embaixo. — Mas acho que posso sentir o que pode ser o chão. Tudo bem, vamos abrir um pouco mais.
Eles trabalharam juntos e minutos depois tinham retirado tijolos suficientes para Will passar de cabeça pela abertura. Ele pousou com um gemido abafado.
— Will, está tudo bem? — gritou Chester.
— Está. Só caí um pouco — respondeu ele. — Passe os pés primeiro e vou te guiar para baixo.
Chester passou depois de uma luta tremenda, por ter os ombros mais largos do que Will. Depois de entrar, os dois começaram a olhar em volta.
Era uma câmara octogonal, com cada uma de suas oito paredes em arco até um ponto central, a uns seis metros no alto. Em seu ápice, havia o que parecia ser uma pedra rosa entalhada. Eles apontaram as lanternas numa reverência silenciosa, vendo o filete gótico instalado num trabalho de construção perfeito. O piso também era feito de tijolos unidos pelas pontas.
— Incrível! — sussurrou Chester. — Quem esperaria encontrar uma coisa dessas?
— Parece a cripta de uma igreja, né? — disse Will. — Mas o estranho é que...
— Sim? — Chester apontou a lanterna para Will.
— É completamente seca. E o ar é meio acre também. Não tenho certeza...
— Já viu isso, Will? — interrompeu Chester, lançando a lanterna para o chão, depois para a parede mais perto dele. — Tem alguma coisa escrita nos tijolos. Em todos eles!
Will de imediato girou para analisar a parede mais próxima, lendo a elaborada escrita gótica entalhada na face de cada tijolo.
— Tem razão. São nomes: James Hobart, Andrew Kellogg, William Butts, John Cooper...
— Simon Jennings, Daniel Lethbridge, Silas Samuels, Abe Winterbotham, Caryll Pickering... Deve haver milhares aqui disse Chester.
Will pegou a marreta no cinto e começou a bater nas paredes, atento ao som para saber se havia algum sinal de buraco ou passagem contígua. Tinha batido metodicamente em duas das oito paredes quando, por nenhum motivo aparente, de repente parou. Colocou a mão na testa e engoliu em seco.
— Sentiu isso? — perguntou a Chester.
— É, meus ouvidos estalaram — concordou Chester, esticando um dedo enluvado rudemente em uma das orelhas. — Como quando a gente levanta vôo num avião.
Os dois ficaram em silêncio, como se esperassem que acontecesse alguma coisa. Depois, sentiram um tremor, um tom inaudível, algo semelhante a uma nota grave tocada em um órgão; uma pulsação estava se formando, ao que parecia, dentro de seus crânios.
— Acho que devemos sair. — Chester olhou o amigo com uma expressão vaga, agora engolindo em seco não por causa dos ouvidos, mas das ondas de náusea que subiam por dentro dele.
Pela primeira vez, Will não discordou. Soltou um rápido “sim”, piscando quando manchas apareceram diante de seus olhos.
Os dois subiram de volta pelo buraco no dobro do tempo, depois foram para as cadeiras na caverna principal e ali desabaram. Embora não tenham dito nada um ao outro nesse período, as sensações inexplicáveis cessaram quase de imediato quando entraram na câmara.
— Mas o que foi aquilo? — perguntou Chester, escancarando a boca para flexionar a mandíbula e apertando as palmas das mãos nas orelhas.
— Não sei — respondeu Will. — Vou trazer meu pai aqui para ele ver... ele pode ter uma explicação. Deve ser uma pressão embutida ou coisa assim.
— Acha realmente que é uma cripta, onde havia uma igreja... Com todos aqueles nomes?
— Talvez — respondeu Will, imerso em pensamentos. — Mas alguém... artesãos, entalhadores... construiu isso com muito cuidado, sem deixar entulho nem lixo, e depois lacrou com o mesmo cuidado. Por que é que tiveram esse trabalho todo?
— Não tinha pensado nisso. Você tem razão.
— E não havia como entrar ou sair. Não consegui encontrar nenhum sinal de passagens de conexão... Nem umazinha. Uma câmara autocontida com nomes, como uma espécie de memorial ou coisa assim? — ponderou Will, completamente pasmo. — Mas o que é que nós achamos aqui?
Capítulo Nove
Sabendo que Rebecca podia ser muito implacável e que não valia a pena incorrer em sua ira — não pouco antes das refeições, de qualquer forma — Will se sacudiu e bateu os pés para tirar a maior parte da lama antes de entrar pela porta da frente. Atirando a mochila no chão, as ferramentas dentro dela matraqueando uma na outra, ele ficou paralisado de pasmo.
Uma cena muito estranha o recebeu. A porta para a sala estava fechada e Rebecca estava agachada ao lado dela, a orelha encostada na fechadura. Ela franziu a testa no momento em que o viu.
— O que... — a pergunta de Will foi interrompida quando Rebecca se levantou rapidamente, fazendo-o se calar com o indicador em seus lábios. Ela pegou o irmão atordoado pelo braço e o puxou à força para a cozinha.
— O que está havendo? — perguntou Will num sussurro indignado.
Isto era mesmo muito esquisito. Rebecca, a Srta. Perfeita em pessoa, flagrada no ato de ouvir os pais pela fechadura, algo que ele nunca esperaria dela.
Mas havia uma coisa ainda mais extraordinária do que isso: a porta da sala de estar. Estava fechada. Will virou a cabeça para olhar novamente, sem crer nos próprios olhos.
— Essa porta ficou escancarada por tanto tempo que nem consigo me lembrar — disse ele. — Você sabe que ela odeia...
— Eles estão brigando! — disse Rebecca gravemente.
— Eles estão o quê? Sobre o quê?
— Não sei bem. A primeira coisa que ouvi foi mamãe gritando com ele para fechar a porta, e eu estava tentando ouvir mais quando você apareceu.
— Você deve ter ouvido alguma coisa.
Rebecca não respondeu de pronto.
— Vamos lá — Will a pressionou. — O que você ouviu?
— Bom — ela começou devagar —, ela estava gritando que ele era uma porcaria de fracasso... e que ele devia parar de perder tempo com um completo lixo.
— O que mais?
— Não consegui ouvir o resto, mas os dois estavam com muita raiva. Eles meio que rosnavam um para o outro. Deve ser realmente importante... Ela está perdendo Neighbours!
Will abriu a geladeira e inspecionou preguiçosamente um iogurte antes de colocá-lo de volta.
— Então sobre o que pode ser? Não me lembro deles fazendo isso antes.
Exatamente aí, a porta da sala se abriu, sobressaltando Rebecca e Will, e o dr. Burrows irrompeu para fora, a cara vermelha e os olhos ameaçadores enquanto ia direto para o porão, na porta oposta. Atrapalhando-se com as chaves e murmurando incompreensivelmente, ele a abriu e a fechou num baque após passar.
Will e Rebecca ainda olhavam pelo canto da porta da cozinha quando ouviram a sra. Burrows gritar.
— VOCÊ NÃO SERVE PARA NADA, SEU FÓSSIL DESGRAÇADO! PODE FICAR Aí EMBAIXO E APODRECER QUE EU NEM LIGO, SUA RELÍQUIA VELHA E IDIOTA! — berrou ela a plenos pulmões, enquanto batia a porta da sala de estar com um estrondo poderoso.
— Isso não pode ser bom para a pintura da sala — disse Will, meio distante.
Rebecca estava tão atenta ao que acontecia que nem pareceu ter ouvido o irmão.
— Meu Deus, que coisa irritante. Eu preciso muito falar com ele sobre o que descobrimos hoje — murmurou ele.
Desta vez ela o ouviu.
— Pode esquecer! Meu conselho é ficar fora do caminho até que as coisas se acalmem. — Ela empinou o queixo com muita presunção. — Se é que vão se acalmar. De qualquer forma, a comida está pronta. Sirva-se. Na verdade, pode se servir de tudo... acho que ninguém mais vai querer comer mesmo.
Sem dizer mais uma palavra, Rebecca se virou e saiu da cozinha. Will passou os olhos da soleira da porta vazia para o fogão, e deu de ombros.
Ele devorou duas refeições e meia e depois subiu a escada da casa, agora misteriosamente silenciosa. Não havia sequer os sons habituais da televisão vindo da sala abaixo enquanto, sentando-se na cama, ele polia meticulosamente sua pá com um tecido até que brilhasse e mandasse reflexos pelo teto. Depois se curvou para colocá-la gentilmente no chão, apagou a luz da mesa-de-cabeceira e deslizou para debaixo do cobertor.
Capítulo Dez
Will acordou com um bocejo de preguiça vendo o quarto com os olhos turvos até perceber a luz entrando pelas bordas da cortina. Ele se sentou atento quando lhe ocorreu que alguma coisa não estava certa. Havia uma surpreendente ausência do movimento matinal de sempre na casa. Olhou o relógio. Tinha dormido demais. Os acontecimentos da noite anterior o esgotaram completamente e ele se esquecera de colocar o despertador.
Ele encontrou peças relativamente limpas de seu uniforme no fundo do guarda-roupa e, vestindo-as rapidamente, foi ao banheiro para escovar os dentes.
Saindo de lá, viu a porta do quarto de Rebecca entreaberta e parou para escutar por um momento. Sabia que não devia entrar de chofre; este era o santuário dela, e ela já bateu muitas vezes nele por entrar sem ser anunciado. Como não havia sinal de vida, decidiu dar uma olhada. Estava perfeito, como sempre — a cama imaculadamente arrumada e as roupas de casa colocadas de prontidão para quando ela voltasse da escola —, tudo limpo e ordenado, tudo no lugar. Ele localizou o pequeno despertado preto da irmã na mesa-de-cabeceira. “Por que ela não me acordou?”, pensou ele consigo mesmo.
Depois, viu que a porta do quarto dos pais estava parcialmente aberta e não conseguiu resistir a meter a cabeça pelo canto. A cama não fora usada. Isso não estava nada bem.
Onde eles estavam? Will refletiu sobre a discussão entre os pais na noite anterior, cuja gravidade agora começava a apreender. Ao contrário da impressão que geralmente dava, Will tinha um lado sensível. Não era que ele não ligasse, só achava difícil demonstrar emoções, preferindo esconder seus sentimentos por trás de um show de bravata impertinente no que dizia respeito a sua família, ou uma máscara de completa indiferença quando se tratava de outras pessoas. Era um mecanismo de defesa que ele desenvolvera com o passar dos anos para lidar com os insultos sobre sua aparência. Nunca demonstre seus sentimentos, nunca reaja às piadas estúpidas dos outros, nunca lhes dê essa satisfação.
Embora não tivesse parado para pensar muito, Will estava ciente de que sua vida familiar era muito estranha, para dizer o mínimo. Todos os quatro membros da família eram tão diferentes, como se tivessem sido atirados juntos sob circunstâncias que estavam além de seu controle, como quatro estranhos completos que por acaso dividiam o mesmo carro ou o mesmo trem. De certa forma isso os unia; cada um conhecia seu lugar e, como resultado, apesar de não serem inteiramente felizes, eles pareciam ter encontrado seu equilíbrio peculiar. Mas agora tudo corria o risco de desmoronar. Pelo menos era como se sentia Will nesta manhã.
Parado no meio do patamar da escada, ele ouviu o silêncio inquietante novamente, olhando de porta em porta entre os quartos. Isso era grave.
— Tinha que acontecer logo agora... Justamente quando descobri uma coisa tão incrível — murmurou ele consigo mesmo. Ele ansiava para falar com o dr. Burrows, contar-lhe sobre os túneis das Covas e sobre a estranha câmara com que ele e Chester toparam. Era como se nada tivesse significado algum sem a aprovação dele, seu “Muito bem, Will” e seu sorriso paternal de orgulho pelas realizações do filho.
Descendo a escada na ponta dos pés, Will teve a sensação estranhíssima de ser um intruso em sua própria casa. Olhou a porta da sala de estar. Ainda estava fechada. Mamãe deve ter dormido ali, pensou ele ao entrar na cozinha. Na mesa, havia uma única tigela; pelo pouco que restava de Rice Krispies presos ali, ele sabia que a irmã já havia tomado o café-da-manhã e fora para a escola. O fato de que ela não lavou a tigela depois, e a ausência da tigela de cereais e da xícara de chá do pai na mesa ou na pia fez com que um alarme vago tocasse em sua cabeça. Este instante congelado de atividade diária tornara-se a pista para um mistério, como as pequenas evidências em uma cena de crime que, se interpretadas da maneira certa, dar-lhe-iam a resposta para o que exatamente estava acontecendo.
Mas isso não era bom. Ele não conseguia encontrar respostas aqui e percebeu que tinha que seguir seu caminho.
— Parece um pesadelo — murmurou ele para si mesmo enquanto se servia apressadamente de Weetos numa tigela. — Desabamento total — acrescentou ele, mastigando melancólico o cereal.
Capítulo Onze
Chester estava refestelado em uma das cadeiras semidestruídas na câmara principal do túnel das Quarenta Covas. Formara outra bolinha de argila entre as pontas dos dedos, aumentando a pilha crescente na mesa ao lado. Depois começou a atirá-las sem muita vontade, uma após outra, no gargalo de uma garrafa vazia de água Volvic que ele equilibrara na borda de um carrinho de mão próximo.
Will estava muito atrasado e Chester, enquanto atirava os pequenos projéteis, perguntava-se o que poderia ter atrapalhado a chegada do amigo. Ficar sozinho não era de grande preocupação, mas ele estava ansioso para contar a Will o que descobrira quando entrou no sítio de escavação.
Quando enfim apareceu, Will andava num passo de lesma pela rampa de entrada do túnel, a pá pousada no ombro e a cabeça baixa.
— Oi, Will — disse Chester animado, enquanto atirava todo um punhado de bolas de argila na garrafa rebelde. Como previsto, todas erraram o alvo. Houve um momento de decepção antes que Chester se virasse para Will querendo uma resposta. Mas o garoto apenas grunhiu e, quando ele olhou, Chester ficou perturbado com a acentuada falta de brilho nos olhos do amigo. Chester percebera que alguma coisa não estava bem nos últimos dias na escola: parecia que Will o evitava e era retraído e pouco comunicativo quando o amigo se aproximava dele.
Um silêncio desagradável cresceu entre os dois na câmara, até que Chester, incapaz de suportar mais tempo, desabafou.
— Tem um bloque...
— Meu pai foi embora — Will o interrompeu.
— Como é?
— Ele se trancou no porão, mas agora achamos que foi embora.
De repente, ficou claro para Chester por que o comportamento do amigo fora tão mais estranho do que o de costume. Ele abriu a boca e a fechou de novo. Não fazia nenhuma idéia do que dizer.
Como se estivesse exausto, Will desabou na cadeira mais próxima.
— Quando foi que isso aconteceu? — perguntou Chester meio sem jeito.
— Há alguns dias... ele teve uma briga com minha mãe.
— O que ela acha?
— Ah, nada! Ela não falou uma palavra com a gente desde que ele foi embora -—respondeu Will.
Chester olhou o túnel que se ramificava da câmara e depois para Will, que esfregava contemplativo uma mancha de lama seca no cabo da pá. Chester respirou fundo e falou, hesitante.
— Me desculpe, mas... tem outra coisa que você precisa saber.
— O que é? — disse Will baixinho.
— O túnel está bloqueado.
— O quê? — disse Will. Num átimo, ele ficou animado de novo. Disparou da cadeira e correu para a boca do túnel. Sem dúvida nenhuma a entrada para a peculiar sala de tijolos era impenetrável: na realidade, só restava metade da passagem de seis metros.
— Não acredito. — Will encarava impotente a barreira compacta de terra e pedra que chegava ao teto do túnel, fechando-o completamente. Ele testou as estacas e se postou diante delas, cutucando-as com as duas mãos e chutando suas bases com a ponta de aço das botas. — Não há nada de errado com estas aqui — disse ele, abaixando-se para testar várias áreas da pilha com as palmas das mãos. Pegou um punhado de terra com a mão em concha e examinou sob o olhar de Chester, que admirava como o amigo investigava a cena.
— Estranho.
— O que é? — perguntou Chester.
Will levou a terra ao nariz e cheirou intensamente. Depois, pegando uma pitada do solo, descartou o resto. Continuou a esfregá-la devagar entre as pontas dos dedos por vários segundos e se virou para Chester com o cenho franzido.
— O que é, Will?
— As escoras mais além no túnel eram totalmente seguras... Eu fiz uma revisão antes de irmos embora da última vez. E não choveu nada recentemente, não é?
— Não, acho que não — respondeu Chester.
— Não, e essa terra não parece úmida o bastante para provocar um deslizamento do teto... Não há mais umidade do que se poderia esperar. Mas a coisa mais estranha de todas é isso. — Ele se abaixou, escolheu um bloco de pedra da pilha e o atirou para Chester, que o pegou e examinou com uma expressão confusa.
— Desculpe, eu não entendo. O que há de importante nisso?
— É calcário. Este bloqueio tem pedaços de calcário. Sinta a superfície da pedra. Parece giz... de textura totalmente errada para ser arenito. Esta é particulada.
— Particulada? — perguntou Chester.
— É, é muito mais granulosa. Peraí, vou ver se estou certo disse Will ao pegar o canivete e, abrindo a lâmina maior, usá-la para perfurar a face limpa de outra pedra, falando o tempo todo. — Está vendo, as duas são rochas sedimentares e são muito parecidas. Às vezes é difícil saber a diferença. Os testes que você pode usar são jogar ácido nelas... o ácido faz o calcário chiar... ou olhar com uma lente de aumento para ver os grãos mais grossos de quartzo que só encontramos no calcário, mas este aqui é o melhor método de todos.
“Lá vamos nós”, anunciou Will, pegando um minúsculo floco da pedra que escolhera como amostra e, para surpresa de Chester, passando-o da lâmina para a boca. Depois começou a roer entre os dentes da frente.
— O que está fazendo, Will?
— Hummm — respondeu Will pensativamente, ainda roendo. — Sim, tenho certeza de que é calcário... Está vendo, ele desmancha numa cola macia... Se fosse arenito, seria mais crocante e até guincharia um pouco quando eu mordesse.
Chester estremeceu ao ouvir o som que vinha da boca do amigo.
— Está falando a sério? Isso não estraga os seus dentes?
— Até agora, não. — Will sorriu. Ele colocou a mão na boca para repor o floco e mastigou por um tempo um pouco maior. — Sem dúvida é calcário — decretou por fim, cuspindo o que restara do floco de pedra. — Quer provar?
— Não, eu tô legal, de verdade — respondeu Chester sem hesitar. — Mas obrigado assim mesmo.
Will acenou para o teto da caverna.
— Não acredito que haja um depósito... um bolsão isolado de calcário... em nenhum lugar aqui perto. Conheço muito bem a geologia dessa região.
— Então, qual é sua conclusão? — perguntou Chester, de cara amarrada. — Alguém desceu aqui e bloqueou o túnel com todas essas coisas?
— É... não... ah, sei lá — disse Will, chutando frustrado a beira da pilha enorme. — Só o que eu sei é que tem alguma coisa muito estranha em tudo isso.
— Pode ter sido uma das gangues? Pode ter sido a Clan? — sugeriu Chester, acrescentando: — Ou até a Click?
— Não, não é provável — disse Will, virando-se para inspecionar o túnel atrás dele. — Haveria outros sinais de que estiveram aqui. E por que eles só bloqueariam este túnel? Você sabe como eles são... Eles estragariam toda a escavação. Não, isso não faz sentido — acrescentou ele, bestificado.
— Não — Chester fez eco.
— Mas quem quer que tenha sido, não queria que nós voltássemos lá, não é? — disse Will.
Rebecca estava na cozinha fazendo seus deveres quando Will voltou para casa. Ele acabara de encaixar a pá no porta-guarda-chuva e pendurara o capacete amarelo no cabo quando ela o chamou do canto.
— Voltou cedo.
— É, tivemos uns problemas em um dos túneis e não estou com vontade de cavar mais — disse ele enquanto desabava abatido na cadeira do outro lado da mesa.
— Sem escavações? — disse Rebecca com uma preocupação fingida. — As coisas devem estar piores do que eu pensava!
— Tivemos um desabamento de teto.
— Ah, sim... — disse ela, distante.
— Nem imagino o que aconteceu. Não pode ser vazamento e a coisa estranha é que o bloqueio... — ele se interrompeu enquanto Rebecca se levantava da mesa e se ocupava na pia da cozinha, claramente sem ouvir uma só palavra do que ele dizia. Will não se incomodou muito com isso; estava acostumado a ser ignorado. Pousou, cansado, a cabeça nas mãos por um momento, mas depois a ergueu com um sobressalto quando uma coisa lhe ocorreu.
— Não acha que ele está encrencado lá embaixo, acha? — disse ele.
— Quem? — perguntou Rebecca enquanto enxaguava uma carola.
— Papai. Porque ficou tão silencioso que todos nós achamos que ele foi a algum lugar, mas é possível que ele ainda esteja no porão. Se ele não comeu por dois dias inteiros, pode ter desmaiado. — Will se levantou da cadeira. — Vou dar uma olhada — disse ele, decisivamente, às costas de Rebecca.
— Não pode fazer isso. De jeito nenhum — disse ela, virando-se para encará-lo. — Sabe que ele não deixa a gente descer lá sem ele.
— Vou pegar a chave extra. — E assim Will correu da cozinha, deixando Rebecca parada ao lado da pia, cerrando e descerrando os punhos em suas luvas de borracha amarela.
Ele reapareceu segundos depois.
— E aí, você vem ou não?
Rebecca não se mexeu para segui-lo, virando a cabeça para olhar pela janela da cozinha, como se meditasse sobre alguma coisa.
— Vamos! — Um lampejo de raiva tingiu a cara de Will.
— Tudo bem... que seja — concordou ela enquanto parecia voltar à vida, tirando as luvas e colocando-as arrumadinhas no escorredor de pratos ao lado da pia.
Eles foram até a porta do porão e a destrancaram no maior silêncio, para que a mãe não ouvisse. Nem precisavam se preocupar, já que o som de uma saraivada de tiros vinha alto e rápido da sala de estar.
Will acendeu a luz e eles desceram a escada de carvalho envernizada que ele ajudara o pai a instalar. Parados no piso de concreto pintado de cinza, os dois olharam em volta, em silêncio. Não havia sinal do dr. Burrows. O cômodo estava abarrotado dos pertences dele, mas nada estava diferente da última vez em que Will o vira. A extensa biblioteca do pai cobria duas paredes, e em outra havia prateleiras que abrigavam seus achados “pessoais”, inclusive uma lanterna de ferroviário, a máquina de bilhetes da estação de trem abandonada e um arranjo cuidadoso de primitivas cabecinhas de argila com feições rudes. Junto à quarta parede havia uma bancada de trabalho, na qual ficava o computador, com um chocolate Curly Wurly inacabado na frente.
Ao inspecionar o ambiente, a única coisa que parecia deslocada a Will era um carrinho de mão cheio de terra e pedras pequenas perto da porta para o jardim.
— O que será que isso está fazendo aqui? — disse ele.
Rebecca deu de ombros.
— Engraçado... eu o vi carregando um carrinho cheio para o terreno baldio.
— Quando foi isso? — perguntou Rebecca, franzindo a testa pensativamente.
— Algumas semanas atrás... no meio da noite. Acho que ele pode ter trazido isso para análise ou coisa assim. — Ele estendeu a mão para o carrinho, pegou um pouco da terra solta e a examinou de perto, rolando-a com o indicador. Depois a levou ao nariz e respirou fundo. — Alto conteúdo de argila — declarou ele, e afundou as duas mãos na terra, erguendo dois grandes punhados, que espremeu e depois soltou, espalhando-os devagar pelo carrinho. Ele se virou para Rebecca com uma expressão inquisitiva.
— Que foi? — disse ela, impaciente.
— Só estava me perguntando de onde pode ter vindo essa terra — disse ele. — É que...
— E o que é que você vai fazer? É óbvio que ele não está aqui e nada disso vai nos ajudar a encontrá-lo — disse Rebecca com tal veemência desnecessária que Will ficou sem fala. — Vem, vamos voltar lá para cima — ela o instou. Sem esperar pela resposta de Will, Rebecca marchou escada acima, deixando-o sozinho no porão.
— Mulheres! — murmurou Will, fazendo eco a um sentimento que seu pai sempre transmitia a ele. — Nunca se sabe em que pé está com elas! — Rebecca, em particular, sempre foi um mistério completo para Will: ele não conseguia decidir se ela lhe dizia aquelas coisas porque lhe dava na veneta, ou se havia realmente algo muito mais profundo e mais complexo acontecendo naquela cabecinha bem cuidada dela, algo que ele sequer podia começar a entender.
O que quer que fosse, não tinha sentido se preocupar com isso agora, não quando havia coisas mais importantes a considerar. Ele bufou com desdém e esfregou as mãos para se livrar da terra, depois ficou parado imóvel no meio da sala até que sua curiosidade o dominasse. Foi até a bancada, mexendo casualmente na papelada que estava ali. Havia artigos fotocopiados sobre Highfield, fotos de casas antigas em tons desbotados de sépia e pedaços esfarrapados de mapas. Um deles chamou sua atenção: havia comentários rabiscados a lápis. Ele reconheceu a letra comprida do pai.
Martineau Square — a chave? Ventilação para quê?, Will leu, franzindo o cenho ao acompanhar a rede de linhas traçadas a lápis pelas casas e de cada lado da praça.
— O que ele estava aprontando? — perguntou a si mesmo em voz alta.
Olhando debaixo da bancada, ele encontrou a pasta do pai e esvaziou seu conteúdo no chão, principalmente revistas e jornais. Em um bolso lateral, encontrou alguns trocados num saquinho de papel pardo e embalagens amassadas de chocolate. Depois, agachando-se, começou a olhar as caixas de arquivo guardadas sob a bancada, puxando cada uma delas para fora e vasculhando seu conteúdo.
Sua pesquisa foi interrompida pela insistência da irmã de que ele devia ir jantar se não a comida esfriaria demais. Mas antes de subir, Will olhou atrás da porta para verificar os casacos pendurados ali. O capacete e o macacão do pai tinham desaparecido.
De volta ao corredor, seguindo para a cozinha, ele passou por uma cacofonia de aplausos e risos de trás da porta fechada da sala.
Os dois comeram em silêncio até que Will olhou para Rebecca. Ela estava com o garfo numa mão e um lápis na outra e fazia o dever de matemática.
— Rebecca, você viu o capacete e o macacão do papai? — perguntou ele.
— Não, ele sempre guarda no porão. Por quê?
— Bom, não estão lá — disse Will.
— Talvez ele tenha deixado em alguma escavação.
— Outra escavação? Não... ele não me contou sobre isso. E além de tudo, quando é que ele teria a oportunidade de sair para fazer isso? Ele sempre estava aqui ou no museu... nunca ia a outro lugar, né? Não sem me contar... — Will se interrompeu enquanto Rebecca o olhava intensamente.
— Conheço esse olhar. Você pensou em alguma coisa, não foi? — disse ela desconfiada.
— Não, não é nada — respondeu ele. — Sério.
Capítulo Doze
No dia seguinte, Will acordou cedo e, querendo esquecer o desaparecimento do pai, vestiu as roupas de trabalho e correu cheio de energia para o térreo, pensando que tomaria um café-da-manhã rápido e talvez ligasse para Chester para escavar o túnel bloqueado no sítio das Quarenta Covas. Rebecca já andava pela cozinha; pela maneira como a irmã o agarrou pela gola no momento em que ele virou o corredor, era óbvio que ela esperava por ele.
— Cabe a nós fazer alguma coisa sobre o papai, você sabe disso — disse ela, enquanto Will a olhava com uma expressão meio assustada. — A mamãe não vai fazer nada... Está atônita demais.
Will só queria sair da casa; tentava desesperadamente fingir para si mesmo que tudo estava normal. Desde a noite da discussão entre os pais, ele e Rebecca preparavam-se para ir para a escola, como sempre. A única quebra da norma era que eles tinham que fazer as refeições na cozinha sem a mãe. Ela vinha servindo-se escondida do que quer que estivesse na geladeira, como se estivesse roubando, e vinha comendo diante da televisão, o que era bem previsível. Estava claro que não deixava de comer, porque faltavam pedaços de torta e de queijo, junto com fatias inteiras de pão e potes de margarina.
Eles se encontraram em algumas ocasiões no corredor, enquanto ela bamboleava para o banheiro de camisola e chinelos com as costas arqueadas. Mas o único reconhecimento que Will e Rebecca receberam nestes encontros ao acaso foi um vago aceno de cabeça.
— Decidi uma coisa. Vou chamar a polícia — disse Rebecca, parada diante da lava-louças.
— Acha mesmo que precisamos fazer isso? Talvez a gente deva esperar mais um pouco — disse Will. Ele sabia que a situação não era boa, mas certamente isto estava indo longe demais e ele ainda não estava preparado para tomar essa atitude. — De qualquer forma, aonde você acha que papai pode ter ido? — perguntou ele.
— Seus palpites são tão bons quanto os meus — respondeu Rebecca asperamente.
— Fui ao museu ontem e ainda estava tudo fechado. — Agora não era aberto há dias, mas ninguém aparecera para reclamar.
— Talvez ele tenha decidido que já estava cheio... de tudo sugeriu Rebecca.
— Mas por quê?
— Desaparece gente o tempo todo. Quem sabe o porquê? — Rebecca deu de ombros. — Mas, agora, vamos ter que assumir o problema — disse ela resolutamente. — E temos que contar à mamãe o que vamos fazer.
— Tudo bem — concordou Will com relutância. Ele olhou a pá, desejoso, quando eles entraram no corredor. Só queria sair da casa e voltar a alguma coisa que entendia.
Rebecca bateu na porta da sala de estar e os dois entraram. A sra. Burrows não pareceu dar pela presença deles; seu olhar não se desviou da TV nem por um segundo. Os dois ficaram parados ali, sem saber o que fazer, até que Rebecca se aproximou da poltrona da mãe, pegou o controle remoto no braço e desligou a televisão.
Os olhos da sra. Burrows continuaram exatamente onde estavam, na tela, agora escura. Will pôde ver o reflexo dos três, figurinhas imóveis presas nos limites do retângulo escurecido. Ele respirou fundo, dizendo a si mesmo que era ele quem devia assumir o controle da situação, e não a irmã, como costumava acontecer.
— Mãe — disse Will, nervoso. — Mãe, não encontramos o papai em lugar nenhum e... agora já faz quatro dias.
— Achamos que devemos chamar a polícia... — disse Rebecca, acrescentando rapidamente: — ...a não ser que saiba onde ele está.
Os olhos da sra. Burrows caíram da tela para os gravadores de vídeo abaixo, mas os dois perceberam que ela não estava focalizando em nada e que sua expressão era terrivelmente triste. De repente, ela parecia muito desamparada; Will só queria lhe perguntar o que havia de errado, o que acontecera, mas não conseguia criar coragem para tanto.
— Sim — respondeu a sra. Burrows delicadamente. — Como quiserem. — E foi tudo. Ela silenciou, os olhos ainda baços, e os dois saíram da sala.
Pela primeira vez, Will tomou consciência de todas as implicações do desaparecimento do pai. O que ia acontecer com eles sem o pai? Estavam com problemas graves. Todos eles. Especialmente a mãe.
Rebecca ligou para a delegacia e dois policiais chegaram várias horas depois, um homem e uma mulher, os dois uniformizados. Will os fez entrar.
— Rebecca Burrows? — perguntou o policial, desviando os olhos de Will e vendo a casa enquanto tirava o quepe, depois pegando um bloquinho no bolso da camisa e abrindo-o. Exatamente nessa hora, o rádio em sua lapela lançou uma fala em arroto ininteligível e ele deslizou o controle de lado para desligá-lo. — Desculpe por isso — disse ele.
A policial falou com Rebecca:
— Foi você quem telefonou?
Rebecca assentiu uma resposta e a policial lhe abriu um sorriso reconfortante.
— Você disse que sua mãe estava aqui. Podemos conversar com ela, por favor?
— Ela está ali — disse Rebecca, levando-os à sala de estar e batendo de leve na porta. — Mãe — chamou Rebecca com delicadeza, abrindo a porta para os dois policiais e parando de lado para que eles entrassem. Will começou a segui-los, mas o policial se virou para ele.
— Sabe de uma coisa, filho, eu adoraria uma xícara de café.
Enquanto o policial entrava e fechava a porta, Will virou-se para Rebecca com expectativa nos olhos.
— Ah, tudo bem, eu faço — disse ela, irritada, e foi pegar a chaleira.
Esperando na cozinha, eles podiam ouvir o ruído baixo da conversa dos adultos vindo de trás da porta até que, várias xícaras de café e o que pareceu uma eternidade depois, o policial apareceu sozinho. Ele entrou e colocou a xícara e o pires na mesa ao lado dos dois.
— Vou ter que dar uma busca rápida na casa — disse ele. Procurar pistas — acrescentou ele com uma piscadela e saiu da cozinha, subindo antes que qualquer um dos dois pudesse reagir. Eles ficaram sentados ali, olhando o teto ao ouvirem os passos abafados que seguiam de um quarto para outro no segundo andar.
— O que ele acha que vai encontrar? — disse Will. Eles o ouviram descer novamente e perambular pelo primeiro andar, e em seguida o policial reapareceu à porta da cozinha. Ele olhou fixa e inquisitivamente para Will.
— Tem um porão aqui, não é, filho?
Will levou o policial ao porão e ficou parado ao pé da escada de carvalho enquanto o homem dava uma olhada no cômodo. Parecia estar particularmente interessado nas peças à mostra do dr. Burrows.
— Coisas incomuns, essas que o seu pai tem. Imagino que tenha nota fiscal para tudo isso, não tem? — disse ele, pegando uma das cabeças de argila empoeirada. Percebendo a expressão assustada de Will, ele continuou: — Só estou brincando. Sei que ele trabalha no museu da cidade, não é?
Will assentiu.
— Fui lá uma vez... acho que numa excursão da escola. — Ele viu a terra no carrinho de mão. — E o que significa tudo isso?
— Não sei. Pode ser de uma escavação que papai andou fazendo. Em geral, fazemos isso juntos.
— Escavação? — perguntou ele, e Will assentiu em resposta.
— Acho que agora gostaria de dar uma olhada lá fora — anunciou o policial, os olhos se estreitando ao examinar Will atentamente, sua postura assumindo uma severidade que o garoto não vira antes.
No quintal, Will o observou procurar sistematicamente pelos limites. Depois ele voltou a atenção para o gramado, agachando-se de vez em quando para examinar os trechos nus em que um dos gatos do vizinho estava acostumado a se aliviar, destruindo a grama. Passou um tempinho olhando o terreno baldio do outro lado da sebe, no final do quintal, antes de voltar para a casa. Will o seguiu e, assim que eles entraram, o policial pôs a mão no ombro dele.
— Diga, filho, ninguém andou cavando por aqui recentemente, não é? — perguntou ele em voz baixa, como se houvesse algum segredo sombrio que Will estava morrendo de vontade de contar.
O garoto se limitou a sacudir a cabeça e eles foram para o hall, onde os olhos do policial se iluminaram para a pá reluzente no porta-guarda-chuva. Percebendo isso, Will tentou se colocar diante dele e bloquear sua visão.
— E tem certeza de que você... ou qualquer outro membro de sua família... não andou cavando no jardim? — perguntou o policial novamente, encarando Will com desconfiança.
— Não, eu não, não há anos — respondeu Will. — Cavei alguns buracos no terreno baldio quando era mais novo, mas papai me fez parar... disse que alguém podia cair neles.
— No terreno, hein? Buracos grandes, é?
— Bem grandes. Mas não achei grande coisa por lá.
O policial olhou para Will com estranheza e escreveu alguma coisa no bloco.
— O quê, por exemplo? — perguntou ele, franzindo a testa de incompreensão.
— Ah, só umas garrafas e lixo velho.
A essa altura, a policial saiu da sala e se juntou ao colega perto da porta da frente.
— Tudo bem? — disse o policial a ela, devolvendo o bloco ao bolso da camisa. Ele lançou um último olhar penetrante a Will.
— Peguei tudo — respondeu a policial, virando-se depois para Will e a irmã. — Olha, tenho certeza de que não há motivo de preocupação mas, como rotina, vamos fazer uma investigação sobre seu pai. Se souberem de alguma coisa ou precisarem falar conosco, sobre qualquer assunto, podem entrar em contato neste número. — Ela passou um cartão impresso a Rebecca. — Em muitos casos assim, a pessoa simplesmente volta... só precisam se afastar um pouco, tirar algum tempo para pensar nas coisas. — Ela lhes abriu um sorriso tranqüilizador e depois acrescentou: — Ou se acalmar.
— Se acalmar do quê? — arriscou-se Rebecca. — Por que nosso pai precisaria se acalmar?
O policial e a mulher pareceram meio surpresos, olhando-se e fitando Rebecca.
— Bom, depois da discussão com sua mãe — disse a policial. Will esperava que ela dissesse mais, explicasse exatamente do que se tratou a briga, mas ela se virou para o outro policial. — Muito bem, é melhor irmos.
— Ridículo! — disse Rebecca num tom de voz exasperado, depois de fechar a porta. — É óbvio que eles não têm a mais remota idéia de para onde ele foi, nem do que vão fazer. Idiotas!
Capítulo Treze
– Will? É você? — disse Chester, protegendo os olhos do sol enquanto o amigo saía pela porta da cozinha e entrava no quintal apertado atrás da casa dos Rawl. Ele estivera matando o tempo naquela manhã de domingo esmagando moscas-varejeiras e vespas com a raquete velha de badminton, alvos fáceis porque elas ficavam preguiçosas no calor do meio-dia. Chester era uma figura cômica de chinelos e gorro, o corpo enorme acentuado pelos shorts largos e os ombros avermelhados do sol.
Will parou com as mãos nos bolsos de trás do jeans, parecendo um tanto preocupado.
— Preciso de ajuda numa coisa — disse ele, olhando para trás para ver se os pais do amigo não estariam ouvindo.
— Claro, o que é? — respondeu Chester, sacudindo das cordas puídas da raquete os restos mutilados de uma mosca.
— Quero dar uma olhada rápida no museu hoje à noite — respondeu Will. — Nas coisas do meu pai.
Ele agora tinha a atenção exclusiva de Chester.
— Para ver se tem alguma pista... na sala dele — continuou Will.
— Como é, quer dizer invadir? — disse Chester em voz baixa. — Eu não...
Will o interrompeu.
— Eu tenho as chaves. — Tirando a mão do bolso, ele as ergueu para Chester ver. — Só quero dar uma olhada rápida e preciso de alguém para vigiar minha retaguarda.
Will estivera completamente preparado para ir sozinho, mas, quando parou para pensar no assunto, pareceu-lhe natural arregimentar a ajuda do amigo. Era a única pessoa a quem recorrer, agora que o pai desaparecera. Ele e Chester trabalharam juntos com muita eficácia no túnel das Quarenta Covas, como uma verdadeira equipe; e, além disso, Chester parecia genuinamente preocupado com o paradeiro do pai de Will.
Deixando a raquete de lado, Chester pensou por um instante enquanto olhava a casa e voltava a fitar Will.
— Tudo bem — concordou ele —, mas é melhor não sermos pegos.
Will sorriu. Era bom ter um amigo de verdade, alguém em quem ele podia confiar, além de seu pai, pela primeira vez na vida.
Depois do anoitecer, os garotos chegaram de mansinho à escada do museu. Will abriu a porta e eles entraram rapidamente. O interior era visível nas sombras em ziguezague lançadas pelos fracos feixes entrelaçados do luar e do néon amarelo dos postes da rua.
— Siga-me — sussurrou Will a Chester e, agora se agachando, eles atravessaram o salão principal e foram para o corredor, esquivando-se dos armários de vidro e fazendo uma careta quando os tênis guinchavam no piso de taco.
— Cuidado com...
— Ai! — gritou Chester, ao tropeçar na madeira de pântano deitada no chão bem no corredor, e ficou estatelado. — O que é que isso está fazendo aqui? — disse ele, irritado, ao esfregar o tornozelo.
— Vem — sussurrou Will com urgência.
Perto do final do corredor, eles acharam a sala do dr. Burrows.
— Podemos usar as lanternas aqui, mas mantenha a luz baixa.
— O que estamos procurando? — sussurrou Chester.
— Ainda não sei. Primeiro vamos dar uma olhada na mesa dele — disse Will numa voz rouca.
Enquanto Chester segurava a lanterna para ele, Will vasculhou a pilha de papéis e documentos. Não era uma tarefa fácil; o dr. Burrows claramente era tão desorganizado no trabalho como era em casa, e havia uma papelada enorme espalhada no escuro em pilhas arbitrárias. A tela do computador também estava obscurecida por uma proliferação de bilhetes em papel amarelo enrascado. Na busca, Will concentrou seus esforços em qualquer coisa que estivesse escrita em folhas soltas no garrancho pouco legível do pai.
Terminando a última pilha de papéis, eles nada encontraram que fosse digno de nota. Então cada um assumiu um lado da mesa e começou a vasculhar as gavetas.
— Caramba, olha isso aqui. — Chester mostrou o que parecia ser uma pata de cachorro empalhada, presa a uma vareta de ébano, em meio a um monte de latas vazias de tabaco. Will simplesmente olhou para ele e fez uma careta curta antes de reassumir a busca.
— Aqui tem uma coisa! — disse Chester todo animado ao investigar a gaveta do meio. Will não se incomodou em tirar os olhos da papelada que tinha nas mãos, pensando que era outro objeto obscuro.
— Não, olha, tem uma etiqueta com alguma coisa escrita. — Ele passou a Will. Era um livrinho com capa marmorizada em roxo e marrom e uma etiqueta na frente que dizia Ex Libris numa letra acobreada e elaborada, com a imagem de uma coruja usando enormes óculos redondos.
— Diário — leu Will. — Sem dúvida nenhuma é a letra do meu pai. — Abriu a capa. — Bingo! Parece uma espécie de diário mesmo. — E o folheou. — Ele escreveu bastante neste aqui. — Colocando-o em sua bolsa, perguntou: — Tem mais algum?
Eles deram uma busca apressada no restante da gaveta e, sem nada encontrar, concluíram que estava na hora de ir embora. Will trancou o museu e os garotos foram para as Quarenta Covas, por ficar mais perto e por saberem que lá não seriam interrompidos. À medida que se esquivavam pelas ruas, enfiando-se atrás de carros quando alguém aparecia, eles sentiram-se vivos de emoção pela missão proibida no museu e estavam loucos para ver o diário que desencavaram. Ao chegar às Covas, desceram à câmara principal, onde arrumaram as luzes de inspeção e se sentaram confortavelmente nas cadeiras. Will começou a estudar as páginas.
— A primeira nota é de pouco tempo depois de termos descoberto a estação de trem perdida — disse ele, olhando para Chester.
— Que estação de trem?
Mas Will estava envolvido demais no diário para explicar. Ele recitou lentamente as frases interrompidas enquanto lutava para decifrar a letra do pai.
— Recentemente me tornei ciente de um grupo pequeno e in... incongruente de intrusos que andam em meio à população geral de Highfield. Um grupo de pessoas com uma aparência que as distingue. Ainda não estou certo de onde elas vieram ou que propósito têm mas, segundo minhas observações limitadas, acredito que nenhuma delas é o que parece. Dado seu aparente número (5=?) homogeneidade de sua aparência (racial?)... suspeito de que podem coabitar ou no mínimo... — ele se interrompeu ao varrer o resto da página. — Não vejo sentido nenhum no resto — disse ele, olhando para Chester. — Aqui tem uma coisa — comentou, virando a página. — Isto está mais claro.
“Hoje um artefato muito intrigante e perturbador chegou a minhas mãos por intermédio do sr. Embers. Pode estar relacionado com estas pessoas, embora eu ainda tenha que... consubstanciar isso. 0 objeto é um pequeno globo protegido por uma grade de uma espécie de metal que, até o momento em que escrevo estas linhas, ainda não consegui identificar. O globo emite uma luz de intensidade variável, dependendo do grau de iluminação do ambiente. O que me confunde é que a relação é diametralmente oposta: quanto mais escuro o ambiente, mais luz ele emite. Isso desafia qualquer lei da física ou da química com que estou familiarizado.”
Will estendeu a página para que Chester pudesse ver o esboço aproximado que o pai fizera.
— Você já viu isso? — perguntou Chester. — Essa coisa que brilha?
— Não, ele guardou tudo para si mesmo — respondeu Will pensativamente. Virando a página, recomeçou a ler. — Hoje tive a oportunidade de... examinar, embora por um breve momento, um dos homens pálidos mais de perto.
— Pálidos? Quer dizer brancos? — disse Chester.
— Acho que sim — respondeu Will, e depois leu a descrição que o pai fizera do homem misterioso. Ele prosseguiu até o episódio com Joe Abacaxi e o duto inexplicável na casa, e os pensamentos e observações do pai sobre a Martineau Square. A isto se seguiu um grande número de páginas debatendo a provável estrutura dentro das casas com terraço que ladeavam a praça; Will continuou folheando até chegar a um extrato fotocopiado de um livro, grampeado no diário.
— Diz aqui “História de Highfield” no alto da página e parece ser sobre alguém chamado Sir Gabriel Martineau — disse Will. — Nascido em 1673, era filho e herdeiro de um bem-sucedido tintureiro de Highfield. Em 1699, herdou do pai os negócios, a Martineau, Long &Co., e os expandiu consideravelmente, acrescentando mais duas fábricas às instalações originais na Heath Street. Era conhecido como inventor entusiasmado e amplamente reconhecido por sua perícia nos campos da química, da física e da engenharia. Com efeito, embora Hooke (1635-1703) em geral tenha o crédito por ser o arquiteto por trás do que essencialmente é a bomba de ar moderna, vários historiadores acreditam que ele construiu seu primeiro protótipo usando os desenhos de Martineau.
“Em 1710, durante um período de desemprego em massa, Martineau, um homem profundamente religioso, reconhecido por sua atitude filantrópica e paternal com relação a sua força de trabalho, começou a empregar um número substancial de trabalhadores para construir casas para os operários da fábrica, e projetou e supervisionou pessoalmente a construção da Martineau Square, que ainda permanece hoje, e havia boatos de que os Homens de Martineau (como eram conhecidos) se envolveram nas escavações de uma considerável rede subterrânea de túneis, embora não haja evidências de seus restos hoje em dia.
“Em 1718, a esposa de Martineau contraiu tuberculose e morreu, aos 32 anos. Em seguida, Martineau procurou consolo filiando-se a uma seita religiosa obscura e raras vezes foi visto em público nos anos que restaram de sua vida. Sua casa, a Martineau House, que antes se destacava nos limites da antiga cidade de Highfield, foi destruída por um incêndio em 1733 em que, segundo se acredita, pereceram Martineau e suas duas filhas.”
Abaixo do recorte, o dr. Burrows havia escrito:
“Por que não há vestígios destes túneis agora? Para que eles serviam? Não consegui encontrar nenhuma menção a eles nos registros da prefeitura ou nos arquivos do distrito, nem em lugar nenhum. Por que, por que, por quê?”
Depois, escrito de forma tão tempestuosa que o papel enrugou e até se rasgou em algumas partes, havia letras de forma enormes e rudes em esferográfica azul:
“MITO OU REALIDADE?”
Will franziu o cenho e se virou para Chester.
— Isso é inacreditável. Já ouviu falar desse Martineau?
Chester sacudiu a cabeça.
— Muito estranho — disse Will, relendo devagar o trecho fotocopiado. — Meu pai nunca falou de nada disso, nem uma vez. Por que ele guardaria segredo de uma coisa dessas, e para mim?
Will mordeu o lábio, a expressão passando da exasperação para uma preocupação profunda. Depois ergueu a cabeça de súbito, como se tivesse levado uma cotovelada nas costelas.
— Que foi? — disse Chester.
— Papai estava metido em alguma coisa que não queria que ninguém roubasse dele. Não de novo. É isso! — gritou Will, lembrando-se da vez em que o professor da Universidade de Londres havia humilhado o pai e tomado dele as escavações na villa romana.
Chester estava prestes a perguntar do que o amigo estava falando quando, agitado, Will começou a folhear o diário.
— Mais coisas sobre esses homens pálidos — disse o garoto, continuando até chegar a uma parte do caderno onde só havia as pontas de páginas que faltavam. — Estas foram arrancadas daqui!
Ele folheou mais um pouco até a última nota. Chester o viu hesitar.
— Olha essa data — disse Will.
— Onde? — Chester se inclinou.
— É da última quarta-feira... o dia em que ele brigou com a mamãe — disse Will em voz baixa, depois respirou fundo e leu em voz alta: — A noite é esta. Descobri uma maneira de entrar. Se for o que penso que seja, minha hipótese, embora pareça louca, se provará correta. Pode ser isso! Minha chance, minha última chance de deixar minha marca. O meu momento! Tenho que seguir meus instintos. Tenho que descer lá. Tenho que atravessar.
— Não entendo... — começou Chester.
Will ergueu a mão para silenciar o amigo e continuou:
— Pode ser perigoso, mas é algo que preciso fazer. Tenho que mostrar a eles; se minha teoria estiver certa, eles verão! Terão de ver. Não sou só um maldito curador de museu.
E então, Will leu a última frase, que estava sublinhada várias vezes.
“Eu serei lembrado!”
— Caramba! — exclamou o garoto, recostando-se de novo na cadeira úmida. — É inacreditável.
— É — concordou Chester sem entusiasmo nenhum. Estava começando a pensar que o pai de Will talvez não fosse totalmente são. Parecia-lhe suspeito como as divagações de alguém que estava enlouquecendo, e muito.
— Então, no que ele se meteu? Qual era essa teoria de que ele estava falando? — disse Will, voltando às páginas arrancadas. — Aposto que estava aqui. Ele não queria que ninguém roubasse suas idéias. — Agora Will murmurava.
— É, mas aonde você acha que ele realmente foi? — perguntou Chester. — O que ele quis dizer com atravessar, Will?
Foi um balde de água fria para Will. Ele olhou, sem expressão, para Chester.
— Bom — começou ele, devagar —, duas coisas estão me incomodando. Primeira, eu o vi trabalhando numa coisa em casa de manhã cedinho... Uns quinze dias antes de ele desaparecer. Calculei que estivesse escavando no terreno baldio... Mas isso não faz sentido.
— Por quê?
— Bom, quando eu vi, tenho certeza de que estava empurrando um carrinho de mão de entulho para o terreno, e não tirando dele. A segunda coisa é que não consegui encontrar o macacão e o capacete dele em lugar nenhum.
Capítulo Quatorze
– Aí, Floco de Neve, soube que seu velho fugiu — gritou uma voz para Will assim que ele entrou na sala de aula. Houve um silêncio imediato na sala enquanto todos se viravam para o recém-chegado que, trincando os dentes, sentou-se a sua carteira e começou a tirar os livros da mochila.
Speed, um garoto magrela e cruel de cabelos pretos e sebosos, era o líder autonomeado de uma gangue de sujeitinhos igualmente desagradáveis chamada “os Cinzas”. Sempre eram vistos reunidos como um enxame de mosquitos atrás do abrigo de bicicletas, aonde escapuliam para fumar uns cigarros quando o professor dava as costas para a turma. Seu nome vinha das nuvens escuras de fumaça que pairavam sobre suas cabeças quando eles se agrupavam, tossindo e tentando terminar os cigarros antes que fossem flagrados.
Todos tinham o uniforme num estado semelhante de desordem, com os nós de gravata impossivelmente grandes, suéteres de tricô e camisas amarrotadas meio enfiadas nas calças largas. Tinham a aparência de um bando de órfãos desnutridos que foram retirados do canal e deixados ao vento para secar. E eram desbocados e desagradáveis com qualquer um da escola que tivesse a infelicidade de atravessar seu caminho.
Uma de suas manias mais revoltantes era cercar um aluno insuspeito e, como um bando de hienas, conduzi-lo à força para o meio do pátio, onde o insultariam e zombariam dele até que ele tivesse um colapso. Will tivera o infortúnio de testemunhar um desses eventos, um aluno apavorado da sétima série que, cercado por Speed e sua gangue, fora obrigado a cantar sem parar “Boi da Cara Preta” a plenos pulmões. Quando o menino, petrificado, tropeçava nas palavras e as pronunciava sem emitir som algum, Speed o espetava sem piedade nas costelas para obrigá-lo a cantar. Uma multidão de espectadores ria constrangida e se cutucava com um alívio mal disfarçado por ter sido poupada do mesmo destino. Will nunca se esqueceu do rapaz sufocando nas palavras ao chorar de medo. Agora era Will o foco da atenção indesejada de Speed.
— Não pode culpar o velho, né? Deve ter ficado de saco cheio de você! — zombou Speed, o desprezo gotejando de sua voz.
Curvado obstinadamente em sua carteira, Will fez o máximo que pôde para fingir que procurava por uma página no livro.
— Se encheu do anormal do filho dele! — gritou Speed, meio que guinchando, daquele jeito horrivelmente gutural que só podia partir de alguém cuja voz estava prestes a mudar.
A fúria brotou por dentro de Will. Sua pulsação se acelerou e o rosto ficou quente; ele odiou que isso traísse sua raiva. Enquanto continuava com os olhos fixos na página sem significado nenhum a sua frente, Will viveu, só por uma fração de segundo, um momento de dúvida pessoal e culpa incríveis. Talvez Speed tivesse razão. Talvez fosse por culpa dele... talvez ele tivesse parte da culpa pelo afastamento do pai.
Ele desprezou o pensamento quase de imediato, dizendo a si mesmo que não podia ser por causa dele. Qualquer que fosse o motivo, seu pai não teria simplesmente ido embora. Deve ter sido algo sério... alguma coisa mortalmente séria.
— E se irritou pra valer com sua mãe doente mental! — berrou Speed ainda mais alto. Com essa, Will ouviu algumas arfadas e o riso esporádico em volta, na sala que antes estivera em completo silêncio. Então, o estado de sua mãe já era de conhecimento geral.
Will agarrou o livro com tal força que a capa começou a vergar. Ainda não olhou para cima, mas sacudiu a cabeça devagar. Só havia uma saída... Ele não queria brigar, mas o nojentinho estava indo longe demais. E agora era uma questão de orgulho.
— Aí, Pudim de Claras, estou falando com você! Você está ou não sem pai? Você é ou não é um...
Chega! Will de repente se levantou, atirando a cadeira para trás. Ela raspou no piso de madeira e virou. Ele olhou fixamente para Speed, que também se levantou da carteira, a cara contorcida de um prazer rancoroso ao perceber que suas gozações acertaram na mosca. Ao mesmo tempo, três dos Cinzas sentados atrás de Speed pularam animados das cadeiras, com uma alegria de predadores.
— O Garoto Galak já não teve o bastante? — zombou Speed, avançando com arrogância entre as carteiras na direção de Will, a comitiva a reboque dando risadinhas.
Chegando perto de Will, Speed parou, os punhos cerrados ao lado do corpo. Embora quisesse dar um passo para trás, Will sabia que tinha que manter posição.
Speed colocou o rosto ainda mais próximo, para que estivesse a centímetros da cara de Will, depois arqueou as costas como um boxeador de segunda classe.
— Bom... você... teve? — disse ele, destacando cada palavra com uma cutucada no peito de Will.
— Deixe-o em paz. Já aturamos o bastante de você. — Subitamente, o corpanzil imponente de Chester entrou no campo de visão enquanto ele se posicionava atrás de Will.
Speed olhou inquieto para ele, depois para Will.
Ciente de que toda a turma o observava, e de que esperavam que ele desse o próximo passo, Speed só conseguiu pensar em sibilar entre dentes com desdém. Foi uma tentativa estropiada de salvar sua honra e todos sabiam disso. Dois da comitiva de Speed desertaram, esquivando-se de volta a suas carteiras e deixando só o menor dos Cinzas como assistente. Embora fosse baixinho, o garoto magro e rijo, que ainda parecia usar calças curtas, gingava de um pé para o outro, claramente preparando-se para uma briga.
— Bom, o que vai fazer agora, apoiado só por um anão? — Chester sorriu friamente para Speed.
Felizmente, naquele exato momento entrou o professor e, percebendo o que acontecia, deu um pigarro alto para que todos soubessem que ele estava na sala. De nada adiantou para diminuir o impasse entre Will, Chester e Speed, e ele teve que avançar e mandar que se sentassem em alto e bom som.
Will e Chester tomaram seus lugares, deixando Speed ainda e pé com seu capanga demorando-se atrás dele. O professor fez a carranca para os dois e, depois de alguns segundos, eles escaparam para as carteiras. Will recostou-se na cadeira e sorriu para Chester. Chester era um amigo de verdade.
Voltando da escola naquele dia, Will entrou de fininho em casa, com todo o cuidado para não alertar a irmã de que tinha chegado. Antes de abrir a porta do porão, parou no corredor para escutar. Ouviu a melodia de “You are my sunshine”; Rebecca cantava sozinha enquanto fazia o dever de casa no segundo andar. Ele desceu rapidamente ao porão e destrancou a porta para o jardim, onde Chester esperava.
— Tem certeza de que não tem problema eu entrar aí? — perguntou ele. — Parece meio... bom... errado.
— Não seja bobo, é claro que pode — insistiu Will. — Agora, vamos ver o que podemos achar aqui.
Eles deram uma busca por tudo o que havia nas prateleiras e nas caixas de arquivo em que Will começara a dar uma olhada antes. Seus esforços foram infrutíferos.
— Então, de onde acha que a terra veio? — perguntou Chester, indo até o carrinho de mão para examiná-lo mais de perto.
— Ainda não descobri. Acho que a gente pode dar uma olhada no terreno. Ver se ele estava aprontando alguma coisa por lá.
— É uma área grande — disse Chester, sem se convencer. — De qualquer forma, por que ele traria isso para cá?
— Não sei — respondeu Will ao passar os olhos nas prateleiras pela última vez. Ele franziu a testa ao perceber uma coisa ao lado de uma das estantes.
— Peraí um minutinho, isso é estranho — disse ele enquanto Chester andava.
— O que é?
— Bom, tem uma tomada ali, mas não consigo ver aonde vai o fio. — Ele puxou o plugue da tomada e os dois olharam em volta; não pareceu ter efeito nenhum.
— Então, para que serve isso? — disse Chester. — Sem dúvida não é uma lâmpada externa.
— Por quê? — perguntou Chester.
— Porque não temos nenhuma — respondeu Will indo para o outro extremo da estante, espiando no canto escuro entre duas prateleiras, depois recuando e fitando o móvel pensativamente. — Que esquisito. Não parece sair deste lado.
Pegando a escadinha próxima à porta do quintal, ele a colocou diante da estante e subiu para inspecionar o alto da prateleira.
— Nenhum sinal dele aqui também — disse Will. — Isso simplesmente não faz sentido. — Ele estava prestes a descer quando parou e passou a mão no alto da estante.
— Alguma coisa? — perguntou Chester.
— Um monte de pó de tijolo — respondeu Will. Ele pulou da cada e de imediato tentou puxar a ponta da prateleira para longe da parede.
— Definitivamente ela cede um pouco. Vem cá, me dê uma mão — disse ele.
— Talvez só esteja mal instalada — sugeriu Chester.
— Mal instalada? — disse Will, indignado. — Eu ajudei a colocar isso aqui.
Os dois puxaram juntos com toda a força e, embora uma fenda fina tenha se aberto atrás da prateleira, a estante parecia firme no alto.
— Me deixa ver uma coisa — disse Will ao subir na escadinha de novo. — Parece que tem um prego frouxo alojado nessa bucha. — Ele o puxou e deixou cair no chão de concreto aos pés de Chester. — Usamos parafusos para fixar isto na parede, e não pregos — acrescentou ele, olhando para Chester com uma expressão confusa.
Will desceu da escada e os dois puxaram a estante novamente. Desta vez, tremendo e estalando, ela balançou da parede e revelou uma dobradiça de um lado.
— Então o fio é para isso! — exclamou Will, enquanto os dois olhavam a abertura grosseira no meio da base da parede. Os tijolos foram removidos, formando um buraco de aproximadamente um metro quadrado. Dentro dele, podia-se ver uma passagem, iluminada pelo mosaico de uma tira antiga de néon, ardendo em toda sua extensão.
Will sorriu para Chester.
— Muito bem, vamos dar uma olhada nisso. — Antes que Chester tivesse tempo de dizer alguma coisa, Will mergulhou na passagem e estava engatinhando por ela a toda. — Tem uma curva aqui — veio sua voz abafada.
Sob o olhar de Chester, Will começou a virar a curva e depois, bem lentamente, voltou ao campo de visão. Ele se sentou e virou a cabeça para Chester, o rosto desconsolado no brilho das luzes.
— Que foi? — perguntou Chester.
— O túnel está bloqueado. Desmoronou — disse Will.
Will se arrastou devagar para fora da passagem, depois subiu pelo buraco na parede, voltando ao porão. Endireitou-se e tirou o blazer da escola, largando-o onde estava. Só então percebeu a expressão melancólica do amigo.
— Que foi?
— O desmoronamento... não acha que seu pai esteja aí embaixo, acha? — disse Chester quase num sussurro, mal conseguindo conter o tremor ao imaginar a terrível possibilidade. — Ele pode ter sido... esmagado — acrescentou ele agourentamente.
Preocupado, Will desviou os olhos do amigo e pensou por um momento.
— Bom, só há um jeito de descobrir.
— A gente não devia contar a alguém? — gaguejou Chester, desnorteado com o aparente alheamento do amigo. Mas Will não estava ouvindo. Seus olhos se estreitaram com a preocupação que indicava que sua mente revirava, formulando um plano de ação.
— Sabe de uma coisa, o bloqueio é exatamente igual ao do túnel das Covas... Não tem sentido. Há lascas de calcário de novo — disse ele, afrouxando a gravata e tirando-a pela cabeça antes de descartá-la ao lado do blazer amarfanhado no chão. — É coincidência demais. — Ele voltou à boca da passagem e se inclinou nela. — E você percebeu os suportes? — perguntou ele, passando a mão em uma estaca que estava ao alcance. — Isto não é acidental. Esta aqui foi cortada e empurrada de propósito.
Chester se juntou ao amigo na abertura e examinou as estacas, que tinham cortes fundos. Foram seccionadas quase retas em determinados lugares, como se alguém as tivesse golpeado com um machado.
— Meu Deus, tem razão — disse ele.
Will rolou as mangas para cima.
— Então, é melhor começar. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. — Ele se enfiou pela passagem, arrastando atrás um balde que encontrara do lado de fora da abertura.
Chester olhou seu uniforme escolar. Abriu a boca para dizer alguma coisa, mas pensou melhor; tirou o blazer e o pendurou com esmero nas costas de uma cadeira.
Capítulo Quinze
– Vai! — disse Will num sussurro urgente, ao se abaixar nas sombras da sebe que fazia limite com o terreno baldio nos fundos do quintal.
Chester gemia do esforço de colocar em movimento o carrinho de mão pesado e depois oscilou precariamente entre as árvores e arbustos. Chegando em terreno aberto, ele virou para a direita, indo para o barranco que estavam usando para despejar o entulho. Pelos montes de terra fresca e de pedra já depositados ali, era evidente para Will que o pai andara usando o barranco com o mesmo propósito.
Will estava atento a qualquer um que passasse por ali enquanto Chester esvaziava rapidamente o carrinho no alto do barranco. Ele girou com habilidade para a viagem de volta, ao passo que Will ficou para trás, a fim de recuperar qualquer pedra grande ou montes de terra e argila que caísse.
Depois de terminar, Will alcançou Chester. Ao refazerem a já traçada rota de volta ao quintal, a roda do velho carrinho começou a soltar um guincho penetrante, como se protestasse contra as incontáveis viagens que fora obrigada a fazer. O barulho perturbou a calma pacífica da refrescante noite de verão.
Os dois garotos ficaram paralisados, olhando em volta para ver se o ruído atraíra a atenção das casas vizinhas.
Tentando tomar fôlego, Chester se curvou com as mãos nos joelhos enquanto Will se abaixava para examinar a roda ofensiva.
— Vamos ter que lubrificar essa porcaria de novo.
— Dãããã, você acha mesmo? — Chester bufou de sarcasmo.
— Acho que é melhor você carregar o carrinho — respondeu Will friamente ao se endireitar.
— Tenho que fazer isso? — gemeu Chester.
— Vamos, eu te dou uma ajuda — disse Will ao pegar a parte da frente do carrinho de mão.
Eles o arrastaram pela distância que restava, grunhindo e xingando em voz baixa, mas mantendo estrito silêncio ao atravessarem o quintal. Andaram de leve ao descer a pequena rampa para a entrada dos fundos do porão.
— Minha vez de encarar, imagino — grunhiu Will enquanto os dois desabavam de exaustão no chão de concreto. Chester não respondeu.
— Você está bem? — perguntou-lhe Will.
Chester assentiu meio grogue, depois semicerrou os olhos para o relógio.
— Acho que preciso ir para casa.
— Acho que sim — disse Will, enquanto Chester lentamente colocava de pé e começava a pegar suas coisas. Will não disse nada, mas ficou aliviado por Chester ter decidido encerrar o dia de trabalho. Os dois estavam mortos de cansaço depois de escavar e despejar entulho, a tal ponto que ele via que Chester estava meio desequilibrado de fadiga ao ficar de pé.
— Na mesma hora amanhã, então — disse Will em voz baixa flexionando os dedos e alongando um dos ombros numa tentativa de reduzir a rigidez.
— Tá — resmungou Chester em resposta, sem sequer olhar para Will ao cambalear para fora do porão, saindo no quintal.
Eles passaram pelo mesmo ritual toda noite depois da escola. Will abria com muito cuidado a porta para o quintal, sem produzir um som, para que Chester entrasse. Eles trocavam de roupa e rapidamente começavam a trabalhar por duas ou três horas seguidas. A escavação era particularmente lenta e tortuosa, não só devido ao espaço limitado acima deles, mas também porque só podiam largar o material cavado no terreno baldio sob a cobertura da noite. No final de cada noite, depois que Chester ia embora, Will se certificava de que a estante estava empurrada para seu lugar e segura, e que o chão fosse varrido.
Desta vez, ele tinha outra tarefa; enquanto saturava de óleo o eixo da roda barulhenta, ele se perguntou quanto mais teria que cavar para chegar ao fim do túnel e, não pela primeira vez, se haveria alguma coisa lá. Estava preocupado com a possibilidade de ficarem sem suprimentos; sem a ajuda do pai com o material, ele fora obrigado a fazer uso da maior quantidade possível de madeira das Quarenta Covas e assim, enquanto o túnel embaixo de sua casa avançava, o outro ficava cada vez mais precário.
Mais tarde, ao se sentar à mesa da cozinha, comendo outro jantar que ficara frio como pedra, Rebecca apareceu na soleira da porta como se tivesse vindo do nada. Will tomou um susto e engoliu com ruído.
— Olha só o seu estado! Seu uniforme está sujo... Você espera mesmo que eu lave tudo de novo? — disse ela, cruzando os braços agressivamente.
— Não, não mesmo — respondeu ele, evitando os olhos dela.
— Will, o que exatamente você está aprontando? — perguntou ela.
— Não sei o que quer dizer — disse ele, socando na boca outra porção de comida.
— Você anda escapulindo para algum lugar depois da aula, não é?
Will deu de ombros, fingindo examinar uma fatia seca de bife role na ponta do garfo.
— Sei que está aprontando alguma, tudo bem, porque eu vi aquele boi andando de fininho no quintal.
— Quem?
— Ah, sem essa, você e o Chester andaram cavando túneis em algum lugar, né?
— Tem razão — admitiu Will. Ele terminou a porção de comida e, respirando, tentou mentir da forma mais convincente que pôde. — Lá no aterro sanitário da cidade — disse ele.
— Eu sabia! — anunciou Rebecca, triunfante. — Como pode até pensar em cavar outro de seus buracos inúteis num momento como esse?
— Eu também tenho saudade do papai, sabe disso — disse ele ao dar outra dentada em uma batata assada fria —, mas não vai ajudar a nenhum de nós se só ficarmos zanzando pela casa, cheios de autopiedade... Como a mamãe.
Rebecca o encarou desconfiada, os olhos brilhando de raiva, depois girou nos calcanhares e saiu da cozinha.
Will terminou a refeição congelada, fitando o vazio ao mastigar devagar cada porção, ruminando sobre os acontecimentos do último mês.
Depois disso, já em seu quarto, ele pegou um mapa geológico de Highfield, marcando os locais onde pensava que a casa ficava e a direção que calculou que tomava o túnel do pai no porão e, já que estava com a mão na massa, a Martineau Square e a casa da sra. Tantrumi. Will olhou longa e fixamente o mapa, como se fosse um quebra-cabeça que precisava resolver, antes de finalmente colocá-lo de lado e subir na cama. Minutos depois caíra num cochilo intranqüilo e espasmódico, em que sonhou com as pessoas sinistras descritas pelo pai no diário.
No sonho, ele usava o uniforme da escola, mas coberto de lama, esfarrapado e rasgado nos cotovelos e nos joelhos. Tinha perdido as meias e os sapatos, e andava descalço por uma rua deserta e comprida, que parecia familiar embora ele não conseguisse situar de onde a conhecia. Ao olhar o céu baixo, que era cinza-amarelado e sem forma, ele remexia ansioso o tecido roto das mangas da camisa. Não sabia se estava atrasado para a escola ou para o jantar, mas tinha certeza de que precisava chegar a algum lugar, ou fazer alguma coisa; algo de importância vital.
Ele ficou no meio da rua, preocupado com as casas dos dois lados. Pareciam agourentas e sombrias; nenhuma luz brilhava por trás de suas janelas empoeiradas, nem subia nenhuma fumaça de suas chaminés precariamente altas, pretas e retorcidas.
Ele se sentia demasiado perdido e sozinho quando, ao longe, viu alguém atravessando a rua. Soube de imediato que era o pai e seu coração pulou de alegria. Ele começou a acenar, mas depois parou ao sentir que as casas o observavam. Havia uma malignidade incubada nelas, como se abrigassem uma força do mal, feito uma mola espremida, prendendo a respiração e preparando uma emboscada para ele.
O medo de Will aumentou a um grau insuportável e ele disparou num trote atrás do pai. Tentou chamar por ele, mas sua voz era fina e fraca, como se o próprio ar estivesse engolindo suas palavras no momento em que saíam de seus lábios.
Agora, ele corria a toda e a cada passo a rua ficava mais estreita, de modo que as casas dos dois lados se fechavam sobre ele. Podia ver com clareza que havia figuras sombrias espreitando de forma ameaçadora nas soleiras escuras das portas e que elas começavam a sair para a rua à medida que ele passava.
Completamente apavorado, ele tropeçava e derrapava nos paralelepípedos escorregadios enquanto as figuras se agrupavam atrás dele em tal número que ficaram indiscerníveis uma da outra, abolindo-se num único manto de escuridão. Seus dedos se estendiam como filetes de uma fumaça preta viva, agarrando-o enquanto ele tentava desesperadamente escapar deles. Mas as figuras sombrias o alcançaram; cutucavam-no nas costas com seus tentáculos negros até que ele foi obrigado a parar completamente. Tendo um breve vislumbre do pai ao longe, Will soltou um grito silencioso. O manto negro se dobrou sobre ele; Will de repente ficou leve e caiu em uma cova. Bateu no fundo com tal impacto que o ar foi expulso de seus pulmões e, arfando para respirar, rolou de costas e viu pela primeira vez as faces severas e reprovadoras de seus perseguidores olhando para ele.
Ele abriu a boca, mas antes de saber o que estava acontecendo, ela se encheu de terra; podia sentir seu gosto enquanto sufocava sua língua e as pedras batiam e arranhavam em seus dentes. Estava sendo enterrado vivo; não conseguia respirar.
Nauseado e com ânsia de vômito, Will acordou, a boca seca e o corpo molhado de um suor frio enquanto ele se sentava. Em pânico, tateou para acender a luz da mesa-de-cabeceira. Com um clique, seu brilho amarelo reconfortante banhou o quarto numa normalidade tranqüilizadora e ele olhou o despertador. Ainda era o meio da noite. Caiu de costas no travesseiro, olhando o teto e respirando mal, o corpo ainda trêmulo. A lembrança da terra entupindo sua garganta estava fresca e nítida em sua mente, como se de fato tivesse acontecido. E, enquanto estava deitado ali, normalizando a respiração, Will foi tomado por uma sensação renovada e ainda mais aguda de perda do pai. Por mais que tentasse, não conseguia se livrar do vazio dominador e, por fim, desistiu de qualquer pretensão de dormir, vendo a luz fria do amanhecer começar a lamber as bordas das cortinas e finalmente entrar furtiva no quarto.
Capítulo Dezesseis
As semanas se passaram e finalmente um inspetor de polícia apareceu para falar com a sra. Burrows sobre o desaparecimento do marido. Vestia um sobretudo azul-escuro sobre um terno cinza-claro e era bem falante, embora meio brusco, ao se apresentar a Will e Rebecca e pedir para ver a mãe deles. Os irmãos o conduziram à sala de estar, onde ela estava sentada, esperando.
Ao acompanharem o policial, eles arfaram, pensando que de algum jeito tinham entrado na sala errada. A televisão, a chama eterna que ardia no canto, estava silenciosa e escura, e — o que também era extraordinário — a sala estava incrivelmente arrumada e organizada. No tempo em que a sra. Burrows levou sua existência de eremita e nem Will nem Rebecca colocaram os pés ali dentro, os dois supuseram que a sala degenerara numa bagunça terrível e a imaginaram cheia de comida semiconsumida, pacotes vazios e pratos e xícaras sujos. Mas não poderiam estar mais equivocados. Agora estava imaculada; mas o mais surpreendente era a mãe deles. Em vez do enfadonho traje de ver TV, camisola e chinelos, ela pusera um de seus melhores vestidos, arrumara o cabelo e até se maquiara um pouco.
Will a encarou sem acreditar, perguntando-se que diabos podia ter provocado uma transformação tão repentina. Só conseguiu pensar que ela imaginava participar de uma das séries policiais que adorava, mas isso não era suficiente para explicar a cena diante dele.
— Mãe, este é... este é... — gaguejou ele.
— Inspetor detetive chefe Beatty — a irmã o ajudou.
— Entre, por favor — disse a sra. Burrows, levantando-se da poltrona e sorrindo com simpatia.
— Obrigado, sra. Burrows... sei que é um momento difícil.
— Não, absolutamente — disse a sra. Burrows, radiante. Rebecca, poderia colocar a chaleira no fogo e nos preparar uma boa xícara de chá?
— É muita gentileza sua, obrigado, senhora — disse o detetive Beatty, pairando desajeitado no meio da sala.
— Por favor. — A sra. Burrows apontou o sofá. — Fique à vontade, por favor.
— Will, você podia me ajudar — disse Rebecca, pegando o irmão pelo braço enquanto tentava conduzi-lo para a porta. Ele não se mexeu, ainda arraigado ao lugar pela visão da mãe que, ao que parecia, mais uma vez era a mulher que não foi durante anos.
— Hã... é... ah, sim... — ele conseguiu dizer.
— Com açúcar? — perguntou Rebecca ao detetive, ainda puxando o braço de Will.
— Não, leite e sem açúcar, por favor — respondeu ele.
— Tudo bem, leite, sem açúcar... e, mãe, com dois adoçantes?
A mãe sorriu e assentiu para ela, depois para Will, como se estivesse se divertindo com a surpresa dos dois.
— E quem sabe um bolo, Will?
Will foi arrancado de seu transe, virou-se e acompanhou Rebecca para a cozinha, onde ficou parado de boca escancarada, sem acreditar, sacudindo a cabeça.
Enquanto Will e Rebecca estavam fora da sala, o detetive falou com a sra. Burrows num tom baixo e sério. Disse que fizeram tudo o que podiam para localizar o dr. Burrows mas, como não havia notícia nenhuma de seu paradeiro, decidiram intensificar a investigação. Isto acarretaria divulgar a foto do dr. Burrows de forma mais ampla e realizar um “interrogatório detalhado” da sra. Burrows, como colocou o detetive, na delegacia. Eles também queriam falar com qualquer pessoa que tenha tido contato com o dr. Burrows pouco antes de seu desaparecimento.
— Gostaria de lhe fazer algumas perguntas agora, se não for incômodo. Vamos começar pelo emprego de seu marido — disse o detetive, olhando a porta e perguntando-se quando o chá ia chegar. — Ele mencionou alguém em particular do museu?
— Não — respondeu a sra. Burrows.
— Quero dizer, há alguém lá em quem ele possa ter confiado?
— Com relação ao destino dele? — A sra. Burrows completou a frase para ele e riu friamente. — Receio que não terá nenhum sucesso nesta linha de investigação. É um beco sem saída.
O detetive sentou-se reto na cadeira, meio frustrado com a resposta da sra. Burrows.
— Ele cuida daquele lugar sozinho — continuou ela —; não há nenhum outro funcionário. Pode pensar em interrogar os velhos esquisitões que andam com ele, mas não me surpreenderia se a memória deles não for mais a mesma.
— Não? — disse o detetive, um sorrisinho aparecendo nos cantos da boca enquanto escrevia no bloco.
— Não, a maioria deles tem uns oitenta anos. E por quê, posso perguntar, quer interrogar a mim e a meus filhos? Já disse ao policial uniformizado tudo o que eu sabia. Não deviam estar lançando um alerta geral?
— Um alerta geral? — O detetive abriu um largo sorriso. — Não usamos este termo por aqui. Nós anunciamos emergências pelo rádio...
— E meu marido não é uma emergência, imagino?
Neste momento, Will e Rebecca apareceram com o chá e a sala ficou em silêncio enquanto a menina colocava a bandeja na mesa de centro e passava as xícaras. Will, agarrado a um prato de biscoitos, também entrou na sala e, como o detetive não parecia fazer objeção à permanência dele e da irmã ali, os dois se sentaram. O silêncio ficou desagradável. A sra. Burrows olhava o policial, que olhava o próprio chá.
— Acho que estamos nos adiantando aqui, sra. Burrows. Podemos nos concentrar em seu marido de novo? — disse ele.
— Acredito que vá descobrir que estamos todos muito concentrados nele. É com o senhor que me preocupo — disse a sra. Burrows, sucinta.
— Sra. Burrows, precisa entender que algumas pessoas não... — começou o detetive — ...não querem ser encontradas. Elas querem escapulir porque, talvez, a vida e seus prazeres tenham passado a ser demasiados para elas.
— Demasiados? — a sra. Burrows fez eco, furiosamente.
— Sim, temos que levar em consideração esta possibilidade.
— Meu marido não suportou a pressão? Que pressão, exatamente? O problema era que ele jamais tinha nenhuma pressão, nem ímpeto, aliás.
— Sra. B... — O detetive tentou interromper, olhando desamparado para Will e Rebecca, que olhavam do detetive para a mãe, como se fossem espectadores de um rali numa partida de tênis particularmente bem disputada.
— Não pense que não sei que a maioria dos assassinatos é cometida por membros da família — proclamou a mãe.
— Sra. Burr...
— É por isso que quer me interrogar na delegacia, não é? Para descobrir o que nós fizemos.
— Sra. Burrows — recomeçou o detetive em voz baixa —, ninguém aqui está sugerindo que foi cometido um assassinato. Será que podemos recomeçar e ver se desta vez partimos com o pé direito? — propôs ele, valentemente tentando recuperar o controle da situação.
— Desculpe. Sei que só está fazendo seu trabalho — disse a sra. Burrows numa voz mais calma, e bebericou o chá.
O detetive assentiu, grato por ela ter interrompido o discurso, e respirou fundo ao olhar o bloco.
— Sei que é uma coisa difícil de pensar — disse ele —, mas seu marido tem algum inimigo? Talvez do trabalho?
Com essa, para grande surpresa de Will, a sra. Burrows jogou a cabeça para trás e riu alto. O detetive murmurou alguma coisa sobre tomar isso como um “não” e escreveu em seu bloquinho preto. Parecia ter recuperado parte de sua compostura.
— Tenho que fazer estas perguntas — disse o detetive, olhando direta-mente para a sra. Burrows. — Tem conhecimento de ele beber excessivamente ou usar drogas?
Novamente a sra. Burrows sol-tou uma gargalhada alta.
— Ele? — disse ela. — Deve estar brincando!
— Muito bem. Então o que ele fazia em seu tempo livre? — perguntou o detetive numa voz monótona, tentando acabar com as perguntas com a maior rapidez possível. — Ele tem algum passatempo?
Rebecca de imediato olhou para Will.
— Ele costumava fazer escavações... arqueológicas — respondeu a sra. Burrows.
— Ah, sim. — O detetive virou-se para Will. — Pelo que sei, você o ajudava, não é, filho? — Will assentiu. — E onde vocês faziam todas essas escavações?
Will deu um pigarro e olhou para a mãe, depois para o detetive que aguardava por uma resposta, a caneta suspensa na mão em expectativa.
— Bom, na verdade, em toda parte — disse Will. — Nos limites da cidade, em aterros sanitários e lugares assim.
— Ah, pensei que fossem coisas adequadas — disse o detetive.
— Elas eram escavações adequadas — disse Will firmemente. — Certa vez descobrimos um sítio de uma villa romana, mas procurávamos principalmente por coisas dos séculos XVIII e XIX.
— A que extensão... digo, que profundidade tinham os buracos que vocês cavavam?
— Ah, na verdade eram só umas covas — disse Will evasivamente, querendo que ele não seguisse essa linha de interrogatório.
— E em que estavam trabalhando nessas atividades na época de seu desaparecimento?
— Não estávamos — disse Will, muito ciente dos olhos de Rebecca ardendo nele.
— Tem certeza de que ele não estava trabalhando em nada, talvez sem seu conhecimento?
— Não, eu acho que não.
— Muito bem — disse o detetive, guardando o bloco. — Já basta, por ora.
No dia seguinte, Chester e Will não se demoraram muito do lado de fora da escola. Localizaram Speed e um de seus fiéis seguidores, Bloggsy, vadiando a pouca distância dos portões. Speed olhava para eles ao se encostar às grades com as mãos nos bolsos, enquanto Bloggsy, um especimezinho desagradável de cabelo louro-avermelhado e crespo que deixava sua cabeça parecida com uma almofada estourada, deleitava-se em atirar pedrinhas, que ele pegava no bolso de sua parca, em qualquer menina que por acaso passasse a seu alcance. Isto produzia gritinhos e palavrões indignados que faziam Bloggsy rir com um prazer demoníaco.
— Acho que ele quer uma revanche — disse Will, olhando Speed, que o encarava diretamente até Chester chamar sua atenção. A esta altura, Speed lhes deu as costas com desdém, murmurando alguma coisa a Bloggsy, que simplesmente zombou deles e soltou uma risada áspera e irônica.
— Dupla de babacas — grunhiu Chester, enquanto ele e Will partiam, decidindo pegar o atalho para casa.
Deixando a escola para trás, um prédio moderno, de tijolinhos amarelos e vidro, que se esparramava pelo terreno, eles andaram pela rua e entraram no conjunto habitacional adjacente. Construído na década de 1970, o conjunto era conhecido pelos moradores como Cidade das Baratas, por motivos óbvios, e os prédios infestados que o compunham encontravam-se num estado perpétuo de abandono, com muitos de seus apartamentos vazios ou incendiados. Isto em si não provocou nenhuma hesitação nos meninos; o problema era que o caminho os fazia passar diretamente pelo território dos Clicks, que faziam Speed e sua gangue parecerem umas bandeirantes.
Enquanto eles andavam lado a lado pelo condomínio, os raios fracos de sol cintilando nos cacos de vidro no asfalto e na sarjeta, Will reduziu o passo quase imperceptivelmente, mas o suficiente para que Chester notasse.
— O que foi?
— Não sei — disse Will, olhando os dois lados da rua e espiando apreensivo uma rua transversal ao passar por ela.
— Vamos lá, me conte — pediu Chester, olhando em volta rapidamente. — Não me agrada nada ser atacado por aqui.
— É só uma sensação, não é nada — insistiu Will.
— O Speed está te deixando paranóico, não é? — respondeu Chester com um sorriso, mas assim mesmo acelerou o passo, obrigando Will a fazer o mesmo.
Ao deixarem o conjunto habitacional para trás, eles reassumiram um ritmo mais despreocupado. Logo chegaram ao começo da High Street, marcado pelo museu. Como fazia todo final de tarde, Will olhou o prédio numa esperança vã de que as luzes estivessem acesas, as portas abertas e o pai de volta ao serviço. Will só queria que tudo voltasse ao normal — o que quer que fosse — mas novamente o museu estava fechado, suas janelas escuras e hostis. O conselho administrativo evidentemente decidira que, por hora era mais barato simplesmente fechar do que procurar por um substituto temporário para o dr. Burrows.
Will olhou o céu; nuvens pesadas começavam a avançar e obscurecer o sol.
— Hoje, a noite deve caminhar bem — disse ele, seu estado de espírito melhorando. — Está escurecendo mais cedo, então não temos que esperar para começar a despejar o entulho.
Chester começara a falar de como os procedimentos seriam mais rápidos se eles pudessem se livrar da necessidade de todo aquele subterfúgio de filme de espionagem, quando Will murmurou alguma coisa.
— Não entendi, Will.
— Eu disse: não olhe agora, mas acho que alguém está seguindo a gente.
— Você o quê? — respondeu Chester e, sem conseguir se reprimir, virou-se de imediato para olhar atrás.
— Chester, seu pateta! — rebateu Will.
Com certeza, a uns vinte metros atrás dele havia um homem atarracado com óculos escuros, chapéu de feltro e um sobretudo preto que parecia uma tenda e chegava aos tornozelos. A cabeça estava voltada para eles, embora fosse difícil dizer se ele realmente olhava para os dois.
— Droga! — sussurrou Chester. — Acho que tem razão. É um daqueles caras sobre quem seu pai escreveu no diário.
Apesar da instrução anterior para Chester não se virar para o homem, agora ele não pôde deixar de dar mais uma olhada.
— Um “homem-de-chapéu”? — concluiu Will com um misto e surpresa e apreensão.
— Mas ele não está atrás da gente, está? — perguntou Chester. Por que estaria?
— Vamos um pouco mais devagar para ver o que ele faz — sugeriu Will. Quando eles reduziram o passo, o homem misterioso fez a mesma coisa.
— Tá legal — disse Will —, e se a gente atravessar a rua?
De novo o homem espelhou os atos dos garotos e, quando aumentaram o ritmo de novo, ele acelerou o dele, para manter a distância.
— Ele sem dúvida está nos seguindo — disse Chester, o pânico audível pela primeira vez em sua voz. — Mas por quê? O que ele quer? Não estou gostando disso... acho que a gente devia pegar a próxima à direita e dar no pé.
— Não sei não — disse Will, imerso em pensamentos. — Acho que devemos confrontar o homem.
— Você deve estar brincando! O seu pai sumiu da face da Terra pouco depois de ver essa gente e, pelo que eu sei, este homem pode ter sido o responsável. Ele pode fazer parte de uma gangue ou coisa assim. Insisto que a gente dê o fora daqui e chame a polícia. Ou peça ajuda a alguém.
Eles ficaram em silêncio por um momento enquanto olhavam em volta.
— Não, tive uma idéia melhor. E se a gente virar o jogo? Armar para cima dele — disse Will. — Se nos separarmos, ele só poderá seguir um de nós e, quando ele fizer isso, o outro pode vir por trás e...
— E o quê?
— Tipo duas frentes de ataque... a gente chega de fininho por trás e derruba o cara. — Agora Will estava calmo enquanto o plano de ação se firmava em sua mente.
— Ele pode ser perigoso, totalmente biruta, pelo que sabemos E com o que vamos derrubá-lo? Com a mochila da escola?
— Sem essa, nós somos dois e ele é só um — disse Will enquanto as lojas da High Street entravam em seu campo de visão. — Vou distraí-lo enquanto você cai em cima dele... pode fazer isso, não pode?
— Ah, que ótimo, obrigado — disse Chester, sacudindo a cabeça. — Ele é mesmo imenso... Vai fazer picadinho de mim!
Will olhou nos olhos de Chester e deu um sorriso malicioso.
— Tá legal, tudo bem. — Chester suspirou. — As coisas que tenho que fazer... — disse ele ao olhar rapidamente para trás e atravessar a rua.
— Caramba! Mudança de planos — disse Will. — Acho que eles é que vão nos atacar!
— Eles? — Chester arfou ao se juntar ao amigo de novo. — Como assim, eles? — perguntou Chester, seguindo o olhar de Will a um ponto mais além na rua.
Ali, diante deles, a alguns passos de distância, havia outro dos homens. Era quase idêntico ao primeiro, a não ser por exibir um chapéu achatado puxado sobre a testa de modo que os óculos escuros só eram visíveis sob a aba. Ele também vestia um longo casaco volumoso, que batia delicadamente ao vento enquanto ele ficava parado no meio da calçada.
Agora não havia dúvidas para Will de que os dois homens estavam atrás deles.
Enquanto ele e Chester alcançavam a primeira loja da High Street, os dois pararam e olharam em volta. Na calçada oposta, duas senhoras conversavam ao empurrar seus carrinhos de vime de rodas rangentes. Uma arrastava um Scottish Terrier recalcitrante, enfeitado com uma roupinha xadrez. Além disso, só havia mais algumas pessoas, longe.
A mente dos dois disparava com a idéia de pedir socorro ao gritos, ou parar um carro, se por acaso passasse um, quando o homem da frente partiu para eles. Com a aproximação dos dois homens, os meninos perceberam que estavam ficando rapidamente sem alternativas.
— Isso é muito esquisito, nós estamos numa bela sinuca... mas quem são esses caras? — disse Chester, as palavras se atropelando enquanto ele olhava por sobre o ombro para o homem de chapéu de feltro. À medida que o estranho avançava, suas botas na calçada pareciam bate-estacas. — Alguma idéia brilhante? — perguntou Chester desesperadamente.
— Tudo bem, olha só, vamos atravessar a rua direto para o cara do chapéu, dar uma finta, depois virar à esquerda e entrar na loja dos Clarke. Entendeu? — disse Will sem fôlego enquanto o homem de chapéu achatado diante deles se aproximava cada vez mais. Chester não fazia a mais remota idéia do que ele estava propondo mas, sob as circunstâncias, estava pronto para concordar com qualquer coisa.
O Clarke Bros. era o principal mercadinho na High Street. Administrado por dois irmãos conhecidos na cidade como “Júnior” e “Médio”, a loja tinha um toldo listrado em cores vivas e bancas imaculadamente arrumadas de frutas e verduras dos dois lados da entrada. Agora que a luz começava a diminuir, o brilho que saía das janelas da loja acenava convidativo para eles, como um farol. O homem de chapéu achatado foi pego por sua luz, o corpo musculoso e largo quase bloqueando toda a extensão da calçada.
— Agora! — gritou Will, e eles partiram para a rua. Os dois homens arrancaram para interceptar os garotos, que dispararam pelo asfalto a toda, as mochilas da escola quicando desvairadamente nas costas. Os homens eram muito mais rápidos do que Will e Chester previram e logo o plano foi por água abaixo, transformando-se num jogo caótico de pega-pega enquanto os dois garotos se esquivavam e costuravam entre os homens pesadões, que tentavam pegá-los, esticando as mãos enormes.
Will gritou quando um dos homens o segurou pela nuca. Depois, mais por acaso do que por intenção, Chester se atirou no homem. O impacto derrubou os óculos escuros do sujeito, revelando as pupilas brilhantes, reluzindo diabolicamente como duas pérolas negras sob a aba do chapéu. Enquanto ele se virava, surpreso, Will aproveitou a oportunidade para afastá-lo, com as duas mãos no peito dele. A gola do blazer de Will rasgou-se e se soltou neste momento.
O homem, distraído por um momento pelo impacto com Chester, grunhiu e se virou rapidamente para Will. Jogando fora a gola solta, ele se lançou num esforço renovado para agarrá-lo.
Num pânico cego, Chester, de cabeça baixa e os ombros projetados para cima, e Will, meio caído e meio girando como um dervixe descoordenado, de algum jeito chegaram à porta do Clarke enquanto os dois homens de chapéu se lançavam para frente, faziam uma última investida e sumiam.
O impulso de Will e Chester os levou diretamente pela porta, espremendo-os pelo batente, enquanto o sino no alto tocava como um dançarino biruta. Eles acabaram como um monte desordenado no chão da loja e Chester, recuperando a razão, de imediato girou e fechou a porta num baque, mantendo-a obstruída com os pés.
— Garotos, garotos, garotos! — disse o sr. Clarke Júnior, balançando perigosamente em uma escada ao arrumar um mostruário de bonecas de palha de milho em uma prateleira. — Por que todo esse pandemônio? Um desejo desesperado e súbito por minhas frutas exóticas?
— É... não exatamente — disse Will, tentando recuperar o fôlego enquanto se levantava do chão e tentava agir naturalmente, apesar do fato de que Chester agora estava de pé, meio desajeitado, com os ombros colocados contra a porta atrás dele.
A esta altura, o sr. Clarke Médio saiu de trás do balcão como um periscópio humano.
— Por que essa algazarra terrível? — perguntou ele, segurando papéis e recibos com as duas mãos.
— Nada com que se preocupar, meu caro. — O sr. Clarke Júnior sorriu para ele. — Não queremos distraí-lo de sua papelada. São só dois arruaceiros procurando uma fruta especial, posso apostar.
— Bem, espero que não queiram fortunelas, no momento estamos em falta de fortunelas — disse o sr. Clarke Médio numa voz dura, enquanto voltava a se retirar devagar por trás do balcão.
— Então podem ser fortunelas. — O sr. Clarke Júnior riu num voz cantarolada, ao que o sr. Clarke Médio gemeu de trás do balcão.
— Não liguem para o Médio; ele sempre fica numa agitação danada quando está cuidando da contabilidade. Papel, papel por toda parte, e nem uma gota de tinta — declamou o sr. Clarke Júnior, adotando uma pose teatral diante de um público imaginário.
Os irmãos Clarke eram uma instituição da cidade. Herdaram a loja do pai, como este herdou do pai antes deles. Pelo que todos sabiam, provavelmente havia um Clarke nos negócios na época da invasão romana, vendendo nabos ou qualquer legume que estivesse na moda. O sr. Clarke Júnior estava em seus quarenta anos e tinha uma personalidade extravagante, com uma tendência a usar horríveis blazers berrantes, que ele fazia num alfaiate local. Deslumbrantes listras de amarelo-limão, rosa-arroxeado e azul-pólvora dançavam entre as bancas de tomates vermelhos e o verde completamente sóbrio dos repolhos. Com seu bom humor contagiante e repertório aparentemente interminável de sátiras e trocadilhos, era disparado o preferido entre as senhoras da cidade, jovens ou velhas, e no entanto, estranhamente, ainda era um perfeito solteirão.
Por outro lado, o sr. Clarke Médio, o irmão mais velho, não podia ser mais diferente. Um tradicionalista devotado, ele olhava com desagrado a exuberância do irmão, tanto na aparência como nas maneiras, insistindo no código de vestimenta convencional: o velho capote de armazém que os antepassados exibiam. Era dolorosamente limpo e arrumadinho; suas roupas podiam ter sido passadas a ferro enquanto ele as vestia, tal era o frescor do capote marrom-cogumelo, a camisa branca e a gravata preta. Os sapatos eram lindamente engraxados e os cabelos, cortados curtos atrás e dos lados como os de um recruta, eram gomalinados com tal brilho que de trás teríamos dificuldade para saber de que lado ele estava.
Os dois irmãos, no interior verde e sombreado da loja, não eram diferentes de uma lagarta e uma borboleta presas em um casulo. E com as brigas constantes, o piadista e o certinho pareciam um teatro de variedades em ensaio constante para uma apresentação que nunca aconteceria.
— Esperando uma demanda por minhas lindas groselhas, não é? — disse o sr. Clarke Júnior num sotaque escocês de brincadeira, e sorriu descaradamente para Chester que, ainda encostado na porta, não fez nenhum esforço para responder, como se tivesse ficado surdo com toda a situação. — Ah, do tipo fortão e caladão — balbuciou ele enquanto descia da escada e girava em um floreio para ficar cara a cara com Will.
— É o jovem mestre Burrows, não é? — disse ele, a expressão de repente ficando séria. — Lamento muito saber de seu querido pai. Vocês estão em nossos pensamentos e nossas orações — acrescentou, colocando a mão direita delicadamente no coração. Como sua mãe está suportando? E sua maravilhosa irmã...
— Bem, bem, as duas estão bem — disse Will, distraído.
— Ela vem constantemente aqui, sabia? Uma cliente valiosa.
— Sim — soltou Will meio rápido demais, tentando prestar atenção ao sr. Clarke Júnior ao mesmo tempo em que Chester continuava escorado, como se sua vida dependesse disso.
— Uma cliente de muito valor — ecoou o invisível sr. Clarke Médio detrás do balcão, acompanhado do farfalhar de papéis.
O sr. Clarke Júnior assentiu e sorriu.
— Deveras, deveras. Agora, estacione seu adorável ser ali enquanto pego alguma coisa para você levar para casa, para sua mãe e sua irmã. — Antes que Will pudesse pronunciar uma palavra que fosse, ele girou graciosamente nos calcanhares e praticamente dançou para o depósito nos fundos da loja. Will aproveitou a oportunidade para ir até a janela ver o paradeiro de seus perseguidores e recuou de surpresa.
— Eles ainda estão ali! — disse ele.
Os dois homens estavam na calçada, bem em frente de cada janela, olhando as bancas de frutas e legumes. Agora escurecia rapidamente na rua e seus rostos brilhavam como balões brancos espectrais sob a iluminação do interior da loja. Os dois ainda estavam com aqueles óculos impenetráveis e Will pôde distinguir os chapéus esquisitos e o brilho ceroso de seus casacos angulosos de ombreiras incomuns. Seus rostos escarpados e oblíquos e as bocas apertadas pareciam inflexíveis e brutais.
Chester falou numa voz baixa e tensa.
— Vamos pedir para eles chamarem a polícia. — Ele gesticulou com a cabeça para o balcão, onde podiam ouvir o sr. Clarke Médio murmurando ao bater um grampeador com tanta força que parecia estar usando uma britadeira.
Exatamente neste momento, o sr. Clarke Júnior entrou flutuando na loja, carregando um cesto com uma pilha alta de uma gama impressionante de frutas, com uma grande fita rosa amarrada na alça. Ele ofereceu a Will com as duas mãos estendidas, como se estivesse prestes a cantar uma ária.
— Para sua mãe e sua irmã e, é claro, camaradinha, para você. Uma lembrancinha minha e do velho esquisito ali, como uma prova de nossa solidariedade por suas dificuldades.
— Antes um esquisito do que um pretensioso — veio a voz abafada do sr. Clarke Médio.
Apontando as janelas, Will abriu a boca para explicar sobre os homens misteriosos.
— Barra limpa — disse Chester em voz alta.
— O que foi, meu caro rapaz? — perguntou o sr. Clarke Júnior, olhando de Will para Chester, que agora estava parado diante de uma das janelas e espiava a rua.
— Que barra está limpa? — O sr. Clarke Médio saltou como um boneco de mola desconjuntado.
— Papelada! — ordenou o sr. Clarke Júnior na voz de um professor de escola colérico, mas o irmão continuou acima do balcão.
— É... são só umas crianças — mentiu Will. — Estavam nos perseguindo.
— Meninos serão sempre meninos. — O sr. Clarke Júnior riu. — Agora, por favor, dê lembranças minhas a sua querida irmã, a srta. Rebecca. Sabe de uma coisa, ela realmente tem um bom olho para produtos de qualidade. Uma mocinha prendada.
— Vou dar — Will assentiu e forçou-se a um sorriso. — E obrigado por isso, sr. Clarke.
— Ah, não foi nada — disse ele.
— Esperamos que seu pai volte para casa logo — disse o sr. Clarke Médio sombriamente. — Não precisam se preocupar; estas coisas acontecem de vez em quando.
— Bem... é como aquele rapaz, o Gregson... uma coisa terrível — disse o sr. Clarke Júnior com um olhar astuto e um suspiro. — E depois houve a família Watkins, no ano passado. — Will e Chester o olharam enquanto ele parecia focalizar em algum ponto entre as filas de abobrinhas e pepinos. — Muito boas pessoas também. Ninguém viu nem um fio de cabelo deles desde que...
— Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa de forma alguma — interrompeu o sr. Clarke Médio asperamente, depois tossiu, pouco à vontade. — Não penso que esta seja hora e lugar para levantar esse assunto, Júnior. É meio insensível, não acha, dada a situação?
Mas “Júnior” não ouvia; agora estava em pleno fluxo e não ia parar. Cruzando os braços e com a cabeça tombada de lado, ele assumiu a aura de um dos velhos com quem costumava fofocar.
— Como o navio Marie Celeste, quando a polícia chegou lá. Camas vazias, os uniformes dos meninos dispostos para a escola no dia seguinte, mas eles não estavam em lugar nenhum, nenhum deles. A sra. W. comprara meio quilo de nossas vagens naquele dia, se bem me recordo, e um pedaço de melancia. De qualquer modo, nenhum sinal de nada, em lugar nenhum.
— Do que... das melancias? — perguntou o sr. Clarke numa voz inexpressiva.
— Não, da família, sua salsicha idiota — disse o sr. Clarke Júnior, revirando os olhos.
No silêncio que se seguiu, Will olhou do sr. Clarke Júnior para o sr. Clarke Médio, que fuzilava com os olhos o irmão tristonho. Ele começava a se sentir como Alice quando atravessou o espelho.
— Muito bem, é melhor continuar — proclamou o sr. Clarke Júnior, com um último olhar solidário para Will, e andou delicadamente para a escada, cantando: “Beterraba para mim, mon petit chou...”
O sr. Clarke Médio sumiu de vista de novo e o som do farfalhar de papéis reapareceu, acompanhado do zumbido de uma calculadora antiquada. Will e Chester abriram com cuidado a porta da loja e espiaram nervosos a rua.
— Alguma coisa? — perguntou Chester.
Will saiu para a calçada diante da loja.
— Nada — respondeu ele. — Nem sinal deles.
— A gente devia chamar a polícia, sabe disso.
— E contar o que a eles? — disse Will. — Que fomos perseguidos por dois sujeitos esquisitos de óculos de sol e chapéu idiota e depois eles simplesmente sumiram?
— É, exatamente isso — disse Chester, irritado. — Quem sabe o que eles estão procurando? — De repente ele olhou para cima ao lhe ocorrer de novo um pensamento. — E se eles são mesmo da gangue que pegou seu pai?
— Esquece... não sabemos disso.
— Mas a polícia... — disse Chester.
— Quer realmente passar por toda aquela porcaria, quando temos um trabalho a fazer? — Will o interrompeu asperamente, olhando os dois lados da High Street e sentindo-se mais tranqüilo, agora que havia mais gente por perto. Pelo menos assim eles poderiam pedir ajuda se os dois homens aparecessem de novo. — A polícia ia pensar que somos só dois garotos fazendo arruaça. E não temos testemunha nenhuma.
— Talvez — concordou Chester de má vontade, enquanto eles partiam para a casa dos Burrows. — Não vai faltar torta de frutas por aqui — disse ele, olhando a loja dos Clarke —, disso posso ter certeza.
— É seguro agora, de qualquer forma. Eles foram embora e, se voltarem, estaremos prontos — disse Will com confiança.
Estranhamente, o incidente não o intimidou nem um pouco. Ao pensar no assunto, era bem verdade o contrário; confirmava que o pai tinha mesmo se metido em alguma coisa e agora ele estava no caminho certo. Embora não falasse de nada disso com Chester, sua decisão de continuar com o túnel e sua investigação ficaram ainda mais sólidas.
Will começou a pegar as uvas no cesto espalhafatoso e a fita rosa, agora desfeita, batia na brisa atrás dele. Chester parecia ter superado seus receios e olhava com expectativa o cesto, a mão postada para se servir.
— Então, você quer pular fora? Ou ainda vai me ajudar? — perguntou Will a ele num tom de zombaria, colocando o cesto torturantemente fora de seu alcance.
— Ah, tá legal, me dá uma banana — respondeu o amigo com um sorriso.
Capítulo Dezessete
– Todas as evidências apontam para um desmoronamento proposital — disse Will, agachando-se ao lado de Chester numa pilha de entulho nos confins abarrotados do túnel fechado.
Eles agora haviam recuperado uns dez metros da cavidade, que começava a descer numa rampa inclinada, e descobriram que estavam ficando perigosamente sem madeira. Will esperava poder usar parte das estacas e tábuas originais do próprio túnel. O que confundia os dois era que o pouco que havia dela ainda estava ali e grande parte da madeira que eles encontraram estava danificada demais. Eles já haviam retirado cada pedaço que puderam do outro túnel das Quarenta Covas, bem como as estacas Stillson, sem deixar toda a escavação a desmoronar.
Will deu uns tapinhas no deslizamento, olhando para ele com o cenho franzido.
— Eu simplesmente não entendo — disse ele.
— Então, o que acha que aconteceu realmente? Que seu pai provocou isso depois de passar? — perguntou Chester, enquanto também olhava o tampão de terra e pedra solidamente compactado que ainda tinham que remover.
— Se ele preencheu o túnel? Não, é impossível. E mesmo que tivesse feito isso de algum jeito, cadê os suportes? Teríamos encontrado mais. Não, nada disso faz sentido algum — disse Will. Inclinando-se para a frente, ele pegou um punhado de pedregulhos. — A maior parte disso aqui é desabamento virgem. Foi trazido para cá de outro lugar... Exatamente a mesma coisa que aconteceu nas Covas.
— Mas por que todo esse trabalho de encher o túnel quando se pode simplesmente desmoronar a coisa toda? — perguntou Chester, ainda aturdido.
— Porque então você abriria trincheiras debaixo das casas das pessoas ou em seus jardins — respondeu Will, sem esperança.
— Ah, é — concordou Chester.
Os dois estavam exaustos. A última parte fora particularmente difícil, composta principalmente de uns nacos de pedra de bom tamanho e algumas que até Chester achou difícil carregar sozinho no carrinho de mão.
— Só espero que não tenhamos que avançar muito mais do que isso — Chester suspirou. — Está começando a me irritar de verdade.
— Nem me fale. — Will pousou a cabeça nas mãos, encarando vaga-mente a parede oposta do túnel. — Já pensou que pode não haver nada no final disso tudo? Um beco sem saída?
Chester olhou para ele, mas estava cansado demais para dizer alguma coisa. Então, eles ficaram sentados ali, em silêncio, imersos em seus próprios pensamentos, e depois de um tempo Will falou:
— O que papai pensou, fazendo tudo isso sem nos dizer o que estava aprontando? Para mim, especialmente — disse ele, com um olhar de pura exasperação. — Por que ele faria isso?
— Ele deve ter tido um bom motivo — propôs Chester.
— Mas todo esse segredo; mantendo um diário secreto. Eu não entendo. Nunca fomos uma família que guarda as coisas dos outros... as coisas importantes... desse jeito. Então, por que ele não me disse o que estava aprontando?
— Bom, você tinha o túnel das Covas — aparteou Chester.
— Papai sabia dele. Mas você tem razão. Nunca me incomodei em contar à mamãe, porque ela simplesmente não está interessada. Quer dizer, não éramos exatamente uma família... — Will hesitou, procurando pela palavra certa — ...perfeita, mas todos nos damos bem e todos de certo modo sabíamos o que os outros estavam fazendo. Agora tudo está uma confusão só.
Chester tirou um pouco de terra da orelha. Olhou para Will pensativamente.
— Minha mãe acha que as pessoas não deviam guardar segredos das outras. Diz que os segredos sempre dão um jeito de aparecer e só criam problemas. Diz que é o mesmo que uma mentira. É o que ela diz a meu pai, sei lá.
— E agora estou fazendo exatamente isso com a mamãe e a Rebecca — disse Will, tombando a cabeça.
Depois que Chester foi embora, Will finalmente saiu do porão e foi direto para a cozinha, como sempre fazia. Rebecca estava sentada à mesa abrindo a correspondência. Will percebeu logo que o monte de vidros de café vazios do pai, que abarrotavam a mesa havia meses, tinha desaparecido.
— O que você fez com eles? — perguntou Will, olhando o cômodo. — Com os vidros do papai?
Rebecca o ignorou deliberadamente enquanto examinava o carimbo postal em um envelope.
— Você jogou fora, não foi? — disse ele. — Como pôde fazer isso?
Ela olhou para ele rapidamente, como se fosse um mosquito cansativo que ela não se daria o trabalho de enxotar, e continuou com a correspondência.
— Estou morrendo de fome. Tem alguma coisa para comer? — disse ele, concluindo que não era sensato provocar Rebecca insistindo no assunto, não tão perto do horário de uma refeição. Ao passar por ela a caminho da geladeira, ele parou para examinar uma coisa deixada de lado. — O que é isso?
Era um pacote muito bem embrulhado em papel pardo.
— É endereçado a papai. Acho que devemos abrir — disse ele sem um momento de hesitação, pegando a faca de manteiga que estava em um prato na pia. Cortando o papel pardo, ele rasgou animadamente o papelão por dentro, depois rasgou um casulo de papel bolha, revelando a esfera luminosa, cintilando do tempo que passou no escuro.
Ele a segurou diante de si, os olhos reluzindo de empolgação e da luz minguante que emanava da esfera. Era o objeto sobre o qual lera no diário do pai.
Rebecca tinha parado de ler a conta do telefone e se colocara de pé. Olhava a esfera intensamente.
— Tem uma carta aqui também — disse Will, estendendo a mão para a caixa de papelão.
— Me dá, deixa eu ver — disse Rebecca, a mão indo para a caixa. Will deu um passo para trás, segurando a esfera em uma das mãos enquanto abria a carta com a outra. Rebecca recolheu a mão e se sentou, observando com cuidado a cara do irmão enquanto ele se curvava na bancada da pia e começava a ler a carta em voz alta. Era do Departamento de Física da University College.
Prezado Roger,
É maravilhoso saber de você novamente, depois de todos esses anos — trouxe-me lembranças calorosas de nossa época na universidade. Também é bom ter notícias suas — Steph e eu adoraríamos fazer uma visita, quando for conveniente.
Com relação ao objeto, desculpe-me por levar tanto tempo para responder, mas queria me certificar de ter recolhido os resultados de todos os envolvidos. A conclusão é que ficamos completamente perplexos.
Como você especificou, não rompemos nem penetramos o envoltório de vidro da esfera, e assim nossos testes não foram de natureza invasiva.
Com relação à radioatividade, nenhuma emissão prejudicial foi registrada — assim, posso tranqüilizá-lo pelo menos com relação a isso.
Um especialista em metalurgia realizou um teste de saturação magnética em um raspado microscópico da base da grade de metal e concordou com nossa opinião de que é georgiano. Ele acredita que a grade é feita de pechisbeque, uma liga de cobre e zinco inventada por Christopher Pinchbeck (1670-1732). Era utilizada como substituto para o ouro e só foi produzida por um curto período de tempo. Aparentemente, a fórmula para esta liga se perdeu quando morreu o filho do inventor, Edward. Ele também me disse que são raros os exemplares autênticos deste material e é difícil encontrar um especialista que possa nos fazer uma identificação inequívoca. Infelizmente, ainda não pude fazer a datação de carbono da grade para confirmar sua idade exata — quem sabe da próxima vez?
Particularmente interessante é que o raio X revelou uma partícula pequena e flutuante no meio da esfera, que não altera sua posição mesmo depois de uma agitação vigorosa — isto é desnorteante, para dizer o mínimo. Além disso, a partir do exame físico, concordamos com você que a esfera parece ser preenchida com duas frações fluidas distintas, de densidades diferentes. A turbulência que observou nestas frações não corresponde às variações de temperatura, interna ou externa, mas é inquestionavelmente fotorreativa — só parece ser afetada pela falta de luz!
Eis aqui a dificuldade: os rapazes do Departamento de Química nunca viram nada parecido na vida. Tive que lutar muito para recuperá-la — eles estavam loucos para abrir a coisa sob condições controladas e fazer uma análise completa. Tentaram a espectroscopia quando a esfera estava em seu ponto mais brilhante (à excitação máxima, suas emissões estão no espectro do visível — em termos leigos, quase como a luz do dia, com uma emissão de UV dentro dos níveis de segurança aceitáveis), e o “líquido” parecia ser predominantemente hélio — e baseado em prata. Não podemos fazer mais nenhum progresso até que você nos permita abri-la.
Uma hipótese é de que a partícula sólida no centro possa agir como catalisadora para uma reação impelida pela ausência de luz. Não conseguimos pensar como, nesta conjuntura, nem associar com qualquer reação comparável que nos ocorresse por um longo período de tempo, supondo-se que a esfera realmente date da época georgiana. Lembre-se, o hélio só foi descoberto em 1895 — isto não se coaduna com nossa estimativa para a data da grade de metal.
Em resumo, o que temos aqui é um verdadeiro enigma. Todos adora-ríamos ter uma visita sua para uma reunião multidisciplinar, para que possamos organizar um programa de análise posterior do objeto. Pode até ser útil se alguns de nossa equipe forem a Highfield para uma investigação rápida no ambiente.
Anseio por saber notícias suas.
Com a maior consideração,
Tom
Professor Thomas Dee
Will colocou a carta na mesa e encontrou o olhar fixo de Rebecca. Ele examinou a esfera por um momento, depois foi até o interruptor e, fechando a porta da cozinha, apagou a luz. Os dois olharam a luminosidade da esfera aumentar de uma luminescência esverdeada e fraca para algo que se aproximava verdadeiramente da luz do dia, tudo em questão de segundos.
— Caramba — disse ele, maravilhado. — E eles têm razão, não ficou nem um pouco quente.
— Você sabia disso, não é? Posso ler em você, fácil como leio um gibi — disse Rebecca, encarando fixamente o rosto de Will, iluminado pelo brilho estranho.
Will não respondeu ao acender a luz, deixando a porta fechada. Eles olharam a esfera escurecer de novo.
— Sabe quando você disse que ninguém estava fazendo nada para encontrar o papai? — disse ele por fim.
— E daí?
— Chester e eu topamos com uma coisa dele e andamos... humm, fazendo nossas próprias investigações.
— Eu sabia — disse ela em voz alta. — O que descobriram?
— Shhh — sibilou Will, olhando a porta fechada. — Fale baixo. Eu é que não vou incomodar a mamãe com nada disso. A última coisa que quero é dar esperanças a ela. Concorda?
— Concordo — disse Rebecca.
— Achamos um livro em que papai tomava notas... Uma espécie de diário — disse Will, devagar.
— Sim, e...?
Sentados à mesa da cozinha, Will contou o que tinha lido no diário e também de seu encontro com os homens estranhos e pálidos na loja dos Clarke. Ele parou antes de lhe contar sobre o túnel debaixo da casa porque, para ele, este era só um segredo pequeno.
Capítulo Dezoito
Foi uma semana depois que Will e Chester enfim fizeram a descoberta. Desidratados de calor na escavação, e com os músculos doloridos e fatigados pelo ciclo interminável de cavar e despejar o entulho, eles estavam prestes a encerrar o dia quando a picareta de Will bateu em um bloco de pedra grande, que caiu para trás. Um buraco preto como breu se abriu diante deles.
Os olhos se fecharam no local, que exalava uma brisa úmida e nevoenta em seus rostos cansados e sujos. Os instintos de Chester gritaram para ele recuar, como se estivesse prestes a ser sugado para a abertura. Nenhum dos dois disse uma palavra; não houve gritos de alegria nem exultação ao fitarem a escuridão impenetrável, com a calma inerte da terra em volta deles. Foi Chester quem quebrou o feitiço.
— Imagino que seja melhor eu ir tomar meu chá.
Will se virou e olhou para ele com incredulidade, depois viu o tremor de um sorriso na cara de Chester. Cheio de um alívio e uma realização enormes, Will não pôde deixar de explodir numa gargalhada histérica. Ele pegou um torrão de terra e atirou no amigo sorridente, que se abaixou, com um risinho abafado vindo de sob o capacete amarelo.
— Você... você... — disse Will, procurando pela palavra certa.
— Sim, o quê? — Chester estava radiante. — Então vem, vamos dar uma olhada — disse ele, inclinando-se para o buraco ao lado de Will.
Will apontou a lanterna pela abertura.
—É uma caverna... não consigo ver muito lá... deve ser bem grande. Acho que posso ver umas estalactites e estalagmites. — Depois ele parou. — Escute!
— O que é? — sussurrou Chester.
— Acho que é água. Estou ouvindo água pingando. — Ele se virou para Chester.
— Tá brincando — disse Chester, o rosto cheio de preocupação.
— Não estou não. Pode ser um regato neolítico...
— Peraí, me deixa ver — disse Chester, pegando a lanterna da mão de Will.
Embora fosse uma tortura, eles decidiram contra qualquer escavação a mais naquele momento. Reassumiriam no dia seguinte, quando estivessem renovados e mais preparados. Chester foi para casa; estava cansado, mas silenciosamente orgulhoso pelo fato de o trabalho dos dois ter gerado frutos. Era verdade que precisavam desesperadamente dormir e Will até pensou em tomar um banho ao recolocar a estante em sua posição. Ele fez a limpeza de sempre com a vassoura e subiu, letárgico, a escada para o quarto.
Ao passar pela porta de Rebecca, ela o chamou. Will fez uma careta e ficou imóvel como uma estátua.
— Will, eu sei que está aí.
Will suspirou e abriu a porta. Rebecca estava deitada na cama, onde andara lendo um livro.
— Que foi? — perguntou Will, olhando o quarto. Ele nunca deixava de ficar surpreso com o fato de Rebecca mantê-lo furiosamente limpo e ar-rumado.
— A mamãe disse que precisa conversar uma coisa com a gente.
— Quando?
— Assim que você chegasse, ela disse.
— Meu Deus, essa agora?
A sra. Burrows estava em sua posição habitual quando eles entraram. Afundada de lado na poltrona como um manequim murcho, ela ergueu a cabeça sonolenta quando Rebecca tossiu para chamar sua atenção.
— Ah, que bom — disse ela, elevando-se para uma posição mais normal e, nesse meio-tempo, jogando alguns controles remotos no chão. — Ah, droga! — exclamou ela.
Will e Rebecca se sentaram no sofá enquanto a sra. Burrows vasculhava febrilmente o monte de fitas de vídeo na base da poltrona. Por fim, levantando-se com os controles, os cabelos caindo, errantes, na frente e o rosto corado do esforço, ela os posicionou com muita precisão no braço da poltrona. Depois deu um pigarro e começou.
— Acho que está na hora de encararmos a possibilidade de que seu pai não voltará, e isto significa que precisamos tomar algumas decisões fundamentais. — Ela parou e olhou a televisão. Uma modelo num vestido de noite cheio de lantejoulas revelava uma grande letra “V” na parede de Catchphrase, que já possuía várias outra letras. A sra. Burrows murmurou “O Homem Invisível” ao se virar para Will e Rebecca. — O salário de seu pai foi suspenso há algumas semanas e, como Rebecca me contou, já estamos ficando desprovidos.
Will virou-se para Rebecca, que simplesmente assentiu e a mãe continuou.
— Todas as economias se foram e, com a hipoteca e todas as outras contas, vamos ter que apertar os cintos...
— Apertar os cintos? — perguntou Rebecca.
— Receio que sim — disse a mãe, distante. — Não vai entrar dinheiro por algum tempo, então vamos ter que reduzir os gastos e... vender o que pudermos... inclusive a casa.
— O quê? — disse Rebecca.
— E vocês terão que entender isso. Não vou ficar muito tempo por aqui. Fui aconselhada a passar um tempinho em um... bem... uma espécie de hospital; um lugar onde posso descansar e recuperar a forma.
Com isso, Will ergueu as sobrancelhas, perguntando-se a que “forma” a mãe estava se referindo. Ela estava em sua forma atual há tanto tempo que ele não se lembrava de outra.
A mãe continuou:
— Então, enquanto eu estiver fora, os dois terão que ficar com a tia Jean. Ela concordou em cuidar de vocês.
Will e Rebecca se olharam. Uma avalanche de imagens passou pela cabeça de Will: o edifício alto em que morava a tia Jean, com os espaços públicos apinhados de sacos de lixo e fraldas descartáveis, e os elevadores pichados, fedendo a urina. As ruas cheias de carros incendiados e scooters das gangues gritando interminavelmente, e os pequenos traficantes de drogas, e os grupos lamentáveis de bêbados que ficavam sentados nos bancos, brigando sem qualquer resultado enquanto entornavam suas latas roxas de cerveja barata.
— De jeito nenhum! — disse ele, de repente, como se estivesse acordando de um pesadelo, fazendo Rebecca pular e a mãe se sentar ereta, mais uma vez derrubando os controles do braço da poltrona.
— Mas que droga! — disse ela, esticando o pescoço para ver onde eles haviam caído.
— Eu não vou morar lá. Não suportaria, nem por um segundo. E a escola, e os meus amigos? — disse Will.
— Que amigos? — respondeu a sra. Burrows com rancor.
— Não pode esperar que a gente vá para lá, mãe. É medonho, fede, o lugar é um chiqueiro — gemeu Rebecca.
— E a tia Jean fede também — acrescentou Will.
— Bem, não há nada que eu possa fazer. Preciso de algum descanso; o médico disse que estou muito estressada, então, não discutam. Vamos vender a casa e vocês vão ter que ficar com a tia Jean até que...
— Até o quê? Você conseguir um emprego ou coisa assim? — disse Will asperamente.
A sra. Burrows olhou para ele.
— Isso não é bom para mim. O médico disse que devo evitar discussões. Esta conversa acabou — rebateu ela, de repente, voltando a se virar de lado.
No corredor, Will se sentou no primeiro degrau da escada, entorpecido, enquanto Rebecca ficou de pé e braços cruzados, encostada na parede.
— Bom, isso é o fim de tudo — disse ela. — Pelo menos vou ter a semana que vem de folga...
— Não, não, não... agora não! — berrou Will para ela, erguendo a mão. — Não com tudo isso acontecendo!
— Não, talvez tenha razão — disse ela, sacudindo a cabeça. Os dois caíram em silêncio.
Depois de um instante, Will se levantou decisivamente.
— Mas eu sei o que tenho que fazer.
— O quê?
— Tomar um banho.
— Precisa mesmo de um — disse Rebecca, vendo-o subir cansado a escada.
Capítulo Dezenove
— Fósforos.
— OK.
— Velas.
— OK.
— Canivete suíço.
— OK.
— Lanterna reserva.
— OK.
— Rolos de barbante.
— OK.
— Giz e corda.
— Tá.
— Bússola.
— Hã... tá.
— Pilhas extra para as lanternas de capacete.
— OK.
— Câmera e bloco de notas.
— OK, OK.
— Lápis.
— OK.
— Água e sanduíches.
— O... estamos planejando uma estada longa? — perguntou Chester ao olhar o pacote absurdamente grande embrulhado em papel de alumínio. Estavam fazendo a verificação de última hora o equipamento no porão dos Burrows, usando uma lista que Will preparara na escola, mais cedo, durante a aula de economia doméstica. Depois de verificar tudo, eles colocaram cada item nas mochilas. Quando terminaram, Will fechou a mochila dele e a pendurou nas costas.
— Tudo bem, vamos nessa — disse ele com um olhar de mera determinação ao pegar a pá enferrujada.
Will arrastou a estante para trás e, depois que ele e Chester entraram, puxou-a e a prendeu com uma tranca improvisada que tinha preparado. Depois, espremeu-se por Chester para ir na frente, avançando rapidamente de quatro.
— Ei, espere por mim — chamou Chester atrás dele, muito surpreso com o entusiasmo impetuoso do amigo.
Na face, eles desalojaram os blocos restantes de pedra, que caíram na escuridão e pousaram com um espadanar surdo. Chester estava prestes a falar quando Will o deteve.
— Eu sei, eu sei, você acha que vamos ser tragados num jato de esgoto ou coisa assim. — Will olhou pela abertura ampliada. — Estou vendo onde as pedras caíram... elas estão se projetando da água. Só pode ser da altura do tornozelo.
Ele se virou e começou a descer de costas pelo buraco. Parou na beira para sorrir para Chester, depois mergulhou para fora de vista, deixando o amigo desnorteado por um instante, até que ouviu os pés de Will pousarem na água com um esguicho alto.
Era uma queda de uns dois metros.
— Ei, é bem fria — disse Will, enquanto Chester passava depois dele. A voz do garoto ecoou sinistramente na caverna, que tinha uns sete metros de altura e pelo menos trinta metros de extensão e, na extremidade mais distante, pelo que eles podiam distinguir, tinha o formato de lua crescente com grande parte do piso submerso. Eles entraram perto de uma das extremidades, e assim só podiam ver até onde a curva da parede permitia.
Saindo da água, eles apontaram as lanternas pelo ambiente por uns segundos mas, quando os feixes pararam na lateral da caverna mais próxima, os dois, de imediato, ficaram petrificados. Will apontou firme a lanterna para as filas complexas de estalactites e estalagmites, de tamanhos variados, de umas da altura de lápis a outras muitos maiores, grossas como troncos de árvores novas. As estalactites desciam como suas contrapartes subiam, algumas se reunindo e formando colunas, e o chão era coberto de inchaços sobrepostos da calcita incrustada.
— É uma gruta — disse Will baixinho, estendendo a mão para sentir a superfície de uma coluna leitosa quase translúcida. — Não é lindo? Parece o glacê de um bolo ou coisa assim.
— Acho que mais parece catarro congelado — disse Chester num sussurro, também tocando uma pequena coluna como se não acreditasse no que via. Ele retirou a mão e esfregou os dedos com uma expressão de desprazer.
Will riu, batendo, com um baque suave, a base da mão numa estalactite.
— É difícil acreditar que seja mesmo pedra, não é?
— E todo o lugar é feito disso — disse Chester, virando-se para olhar mais além na parede. Ele estremeceu um pouco por causa do ar frio e franziu o nariz. Toda a câmara tinha um cheiro úmido e envelhecido, não era nada agradável. Mas, para Will, era o cheiro doce do sucesso. Ele sempre sonhou encontrar uma coisa importante, mas esta gruta superava suas expectativas mais desvairadas. A alegria era tão intensa que Will quase ficou inebriado.
— É isso! — disse ele, socando o ar em triunfo. Nesse instante, parado ali na gruta, ele era o grande aventureiro que sempre sonhou ser, como Howard Carter na tumba de Tutancâmon. Ele virava a cabeça rapidamente de um lado para outro, tentando apreender tudo a um só tempo.
— Sabe de uma coisa, deve ter levado milhares de anos para que isso tudo se formasse... — balbuciou Will ao dar alguns passos para trás, parando assim que seu pé prendeu em alguma coisa. Ele se abaixou e viu o que era: um pequeno objeto projetando-se da rocha fluente. Escuro e escamoso, sua cor penetrava na alvura em volta. Ele tentou soltá-lo, mas seus dedos escorregavam. Estava bem preso.
— Aponte a lanterna para cá, Chester. Parece um parafuso enferrujado ou coisa assim. Mas não pode ser.
— É, Will... talvez queira ver isso... — respondeu Chester, a voz meio trêmula.
No meio da gruta, na parte mais funda do poço opaco que havia ali, estavam os restos do que parecia uma máquina imensa. As luzes dos meninos revelaram fileiras de rodas dentadas marrom-avermelhadas que ainda se uniam ao que parecia uma estrutura espalhada de ferro batido, tão alta que em certos pontos as estalactites que cresciam do teto de pedra tocavam nela. Era como se uma locomotiva tivesse sido impiedosamente estripada e largada ali para morrer.
— Mas o que é isso? — perguntou Chester, enquanto Will ficava em silêncio atrás dele, examinando o cenário.
— Não me pergunte — respondeu Will. — E tem pedaços de metal em toda parte. Olha!
Ele apontava a lanterna para as margens da água, seguindo até onde podia, aos recessos mais distantes da caverna. O primeiro pensamento de Will tinha sido de que a margem era raiada de minerais ou coisa parecida, mas, num exame mais atento, ele descobriu que eram cobertas de mais parafusos de porca, como o que acabara de encontrar, todos com cabeças hexagonais grossas. Além disso, havia eixos e incontáveis estilhaços de ferro batido denteado. O oxido vermelho destes se entrelaçava com as faixas mais escuras que, devido a sua aparência, Will tomou como vazamentos de óleo.
Parados ali num silêncio pasmo e inspecionando seu tesouro sem valor, eles ouviram um arranhar fraco.
— Ouviu isso? — sussurrou Chester ao apontarem as lanternas na direção do som. Will avançou um pouco pela caverna, andando com cuidado no chão desigual, agora invisível sob a água.
— O que era? — Chester arfou.
— Shh! — Will parou e os dois escutaram, olhando em volta.
Um movimento repentino e um pequeno jorro os fizeram pular. Depois alguma coisa branca e brilhante pulou da água ondulante e percorreu um dos membros de metal, parando imóvel no alto de uma enorme engrenagem. Era uma ratazana com uma pelagem reluzente e completamente branca, e orelhas grandes e cor-de-rosa. Ela passou as patas no focinho e sacudiu a cabeça, espalhando gotinhas no ar. Depois se ergueu nas pernas traseiras, os bigodes se retorcendo e vibrando na luz das lanternas, e farejou o ar.
— Mas que coisa! Não tem olho nenhum — sibilou Will empolgado.
Chester estremeceu. Certamente, onde deveria haver olhos, não havia sequer o mais leve intervalo no pêlo macio de neve.
— Eca, que nojo! — exclamou Chester ao dar um passo para trás.
— Evolução adaptativa — respondeu Will.
— Pouco me importa o que é!
O animal virou e arqueou a cabeça na direção da voz de Chester. Depois, no segundo seguinte, ele se foi, mergulhando na água e nadando para a margem oposta, onde fugiu.
— Que ótimo! Ele deve ter ido encontrar os companheiros — disse Chester. — Daqui a pouco este lugar estará infestado deles.
Will deu uma risada.
— É só uma porcaria de rato!
— Não era um rato normal... Quem já ouviu falar em ratos sem olhos?
— Sem essa, Chester, sua mulherzinha. Não se lembra dos Três Ratinhos Cegos? — disse Will com um sorriso torto enquanto eles começavam a andar para a margem em crescente, lançando a luz das lanternas nos recantos das paredes e no teto. Chester andava apreensivo entre as pedras e restos de ferro, olhando constantemente para trás em busca de um exército imaginário de ratos cegos.
— Ai, meu Deus, eu odeio isso — grunhiu ele.
Ao se aproximarem das sombras na extremidade mais distante da gruta, Will apertou o passo. Chester fez o mesmo, decidido a não ficar para trás.
— Caramba! — Will parou de repente, Chester esbarrando nele. — Olha só isso!
Instalada na pedra, havia uma porta.
A lanterna de Will se agitou pela superfície opaca e marcada — parecia antiga, mas sólida, com rebites feito metades de bolas de golfe espaçados em sua moldura, e três alavancas enormes de um lado. Ele estendeu a mão para tocar nelas.
— Ei! Não! — Chester se encrespou.
Mas Will não lhe deu nenhuma atenção e bateu de leve na porta com os nós dos dedos.
— É de metal — disse ele, passando a palma da mão pela superfície — era brilhante, preta e irregular, como melado queimado.
— E daí? Você não está pensando em entrar, está?
Will virou-se para ele, a mão ainda encostada na porta.
— Este é o único caminho que meu pai pode ter tomado. É claro que eu vou, droga!
Com essa, ele estendeu o braço, segurou a alavanca de cima e tentou puxar para baixo. Ela se recusou a se mexer. Ele passou a lanterna a Chester e depois, usando as duas mãos, tentou de novo, descendo com todo seu peso. Nada aconteceu.
— Tente para o outro lado — sugeriu Chester, resignado.
Will tentou novamente, desta vez empurrando para cima. Ela estalou um pouco no começo e então, para surpresa dele, girou suavemente até bater decisivamente no que ele achou que era a posição aberta. Ele fez o mesmo com as outras duas alavancas, depois deu um passo para trás. Pegando a lanterna com Chester, Will colocou uma das mãos no meio da porta, pronto para empurrá-la.
— Bom, lá vamos nós — disse ele a Chester, que desta vez não levantou nenhuma objeção.
PARTE DOIS
A Colônia
Capítulo Vinte
A porta se abriu com um fraco gemido metálico. Will e Chester pararam por um momento, a adrenalina correndo pelas veias enquanto eles dirigiam as lanternas para o espaço escuro à frente. Os dois estavam preparados para se virar e fugir num instante mas, sem ouvir nem ver nada, pisaram com cuidado no rebordo de metal da soleira da porta, prendendo a respiração enquanto o coração martelava nas orelhas.
A luz das lanternas varreu instável o interior. Estavam parados em uma câmara quase cilíndrica, com não mais de dez metros de largura e sulcos pronunciados em toda sua extensão. Na frente, havia outra porta, idêntica à que haviam acabado de usar para entrar, a não ser por um pequeno painel de vidro embaçado sustentado por uma moldura de rebites, como uma pequena vigia de navio.
— Olha como parece uma espécie de câmara de compressão — observou Will ao avançar para a câmara, as botas batendo no chão de ferro sulcado. — Ande — disse ele a Chester desnecessariamente, pois o amigo o havia seguido e, sem ser solicitado, estava fechando a porta às costas dos dois, puxando as alavancas para que as três voltassem a ficar unidas.
— É melhor deixar tudo como encontramos — disse Chester. — Só por precaução.
Sem ter tido sucesso algum ao tentar ver através da vigia opaca, Will abriu as três alavancas na segunda porta e a empurrou para fora. Houve um sibilar curto, como se o ar estivesse vazando de uma válvula de pneu. Chester lançou a Will um olhar inquisitivo, que ele ignorou enquanto se arriscava a entrar na pequena sala adjacente. Com uns três metros quadrados, tinha paredes como a quilha de um barco velho, uma colcha de retalhos de placas de metal enferrujado unidas por uma solda grosseira.
— Tem um número aqui — observou Chester ao fechar as alavancas da segunda porta. Descascando e amarelado pelo tempo, havia um grande número 5 pintado na porta abaixo da vigia embaçada.
Enquanto eles avançavam cautelosamente, as luzes pegavam os primeiros detalhes de algo que havia diante deles. Era uma treliça de barras de metal, correndo do chão ao teto e bloqueando completamente o caminho. A luz de Will projetou sombras espasmódicas na superfície mais além, enquanto ele empurrava a treliça com a mão. Era sólida e não cedia. Ele enfiou a lanterna por ela e, segurando o metal úmido, içou-se para o mais perto que pôde.
— Estou vendo as paredes e acho que posso ver o teto, mas... — disse ele, girando a cabeça —, mas o chão é...
— Uma longa descida — interrompeu Chester, a aba do capacete arranhando a treliça ao buscar uma visão melhor.
— Posso lhe dizer que não há nada nem remotamente parecido com isso nas plantas da cidade. Acha que eu deixaria passar uma coisa dessas? — disse Will, como que para dispersar qualquer dúvida pessoal que pudesse ter de não ver algo tão extraordinário nos mapas.
— Não, peraí, Will! Olha os cabos! — disse Chester em voz alta ao espiar os fios grossos cobertos pela treliça. — É um poço de elevador — acrescentou ele com entusiasmo, o estado de espírito de repente alegre pela i-déia de que, longe de ser algo inexplicável e ameaçador, o que eles encontraram era reconhecível e familiar. Era um poço de elevador. Pela primeira vez desde que deixaram a relativa normalidade do porão dos Burrows, ele se sentiu seguro, imaginando que o poço devia descer a algo muito banal, como um túnel de metrô. Ele até se permitiu pensar que isto podia significar o final de sua expedição inacabada.
Ele olhou para baixo, à direita, localizou uma alavanca e, girando-a, deslizou o painel, que raspou horrivelmente nas calhas. Will deu um passo para trás, surpreso: na pressa, deixou de perceber que a barreira era na verdade um portão deslizante e agora o via abrir-se diante deles. Depois de Chester ter empurrado tudo para trás, eles tiveram uma visão desimpedida do poço escuro. As lanternas dos capacetes brincaram nos cabos pesados e oleosos que corriam no meio do poço para a escuridão abaixo, entrando no abismo.
— É uma queda dos infernos. — Chester estremeceu, agarrando a beira do velho portão de elevador enquanto seu olhar era engolido pela profundidade vertiginosa. Will desviou a atenção do poço e começou a olhar a câmara de ferro atrás deles. Ali, preso à parede a seu lado, encontrou uma pequena caixa de madeira escura com um botão de bronze manchado projetando-se do meio.
— É isso aí! — gritou ele, triunfante, e, sem dizer nada a Chester, apertou o botão, que parecia gorduroso sob a ponta de seu dedo.
Nada aconteceu.
Ele tentou novamente.
E outra vez, nada.
— Chester, feche o portão, feche! — gritou ele, incapaz de conter a empolgação.
Chester o bateu e Will martelou o botão novamente. Houve uma vibração distante e um fragor reverberou do fundo do poço. E depois, os cabos ganharam vida num solavanco e começaram a se mexer, o poço se enchendo de um gemido alto do equipamento suspenso, que devia estar alojado não muito acima deles. Os dois escutaram os ecos estridentes do elevador que se aproximava.
— Aposto que desce a uma estação do metrô. — Chester se virou para Will com uma cara de expectativa.
Will franziu o cenho, aborrecido.
— De jeito nenhum. Eu disse a você que não tem nada aqui. Isto é algo completamente diferente.
O otimismo de Chester evaporou, seu rosto desabando enquanto os dois se aproximaram do portão do elevador de novo, encostando a cabeça nele para que as lanternas dos capacetes apontassem para o poço escuro.
— Bom, se não sabemos o que é isso... — disse Chester — ainda dá tempo de voltar.
— Vamos lá, não vamos desistir. Não agora.
Os dois ficaram parados por alguns minutos, escutando a aproximação do elevador, até que Chester falou.
— E se houver alguma coisa nele? — disse, recuando do portão e começando a entrar em pânico de novo.
Mas Will não podia sair dali.
— Peraí, não consigo... ainda está escuro demais... espera! Já dá para ver, dá para ver! É como um elevador de mina! — Olhando fixamente o elevador enquanto ele se aproximava cautelosamente, Will descobriu que era capaz de ver através da grade que formava seu teto. Ele se virou para Chester. — Relaxa, tá bom? Não tem ninguém ali.
— Eu não pensei que tivesse mesmo — retorquiu Chester, na defensiva.
— Ah, tá, seu molengão.
Satisfeito por estar vazio, Chester sacudiu a cabeça e suspirou de alívio enquanto o elevador chegava ao nível deles. Ele estremeceu numa parada clangorosa e Will não perdeu tempo, puxou a porta e avançou alguns passos. Depois se virou para Chester, que adejava na beira, parecendo decididamente pouco à vontade.
— Não sei não, Will, parece bem frágil — disse ele, o olhar vagando pelo interior do elevador. Tinha paredes de grade e um piso de placas de aço arranhadas, e toda a coisa era coberta do que pareciam anos de sujeira gordurosa e poeira.
— Vamos, Chester, este é o grande momento! — Nem por um segundo Will parou para pensar que só havia um caminho: para baixo. Se antes estava cheio de alegria pela descoberta da gruta, agora isto superava todas as suas expectativas mais doidas. —Vamos ficar famosos! — Ele riu.
— Ah, claro, estou até vendo... Dois mortos em desastre de elevador! — Chester replicou sombriamente, esticando as mãos diante de si para indicar a manchete de jornal. — É só que não parece seguro... não deve ter sido usado por décadas.
Sem hesitar nem por um momento, Will pulou algumas vezes, as botas soando no piso de metal. Chester olhou, apavorado, enquanto o elevador se sacudia.
— Seguro como uma casa. — Will sorriu diabolicamente e, pousando a mão na alavanca de bronze dentro do elevador, olhou nos olhos de Chester. — Então, você vem... ou vai voltar para brigar com o rato?
Foi o que bastou para Chester, que de imediato entrou no elevador. Will fechou a porta deslizante às costas dele, empurrando e segurando a alavanca para baixo, o elevador novamente entrando em movimento com um tremor e começando a descer. Pela grade, interrompida com muita freqüência pelas bocas escuras de outros níveis, eles viram a face da rocha lentamente sumindo em sombras opacas de marrons, pretos e cinzas, ocres e amarelos.
Uma brisa úmida soprava no alto e, a certa altura, Chester apontou a lanterna pela grade do teto, para o poço e os cabos, que pareciam um par de feixes de laser sujos desaparecendo no espaço sideral.
— Até que ponto você acha que ele vai? — perguntou Chester.
— Como é que vou saber? — respondeu Will rudemente.
Na verdade, quase cinco minutos se passaram até que o elevador finalmente parou com um baque abrupto de sacudir os ossos, que fez com que os dois caíssem pelas laterais da grade.
— Talvez eu devesse ter soltado a alavanca um pouco antes disse Will timidamente.
Chester olhou confuso para o amigo, como se nada mais importasse de fato, e depois os dois ficaram parados ali, as luzes lançando nas paredes do outro lado as silhuetas gigantescas e losangulares da grade da gaiola.
— Lá vamos nós de novo. — Chester suspirou ao deslizar a porta, ver Will passar por ele impaciente e entrar em outra sala de placas de metal, correndo para a porta na outra extremidade.
— É igual à de cima — observou Will ao se ocupar das três alavancas do lado da porta. Esta tinha um 0 grande pintado no alto.
Eles deram alguns passos inseguros na sala cilíndrica, as botas soando no piso de metal ondulado e a luz das lanternas iluminando outra porta diante deles.
— Parece que temos um caminho a seguir — disse Will, andando para ela.
— Essas coisas parecem ter saído de um submarino — murmurou Chester. — Como câmaras de compressão mesmo.
Na ponta dos pés, Will olhou pela pequena vigia de vidro, mas não conseguiu ver nada do outro lado. E quando tentou acender a lanterna por ela, a gordura e os arranhões no vidro antigo refrataram o feixe, então, ele ficou ainda mais opaco.
— Não adianta — disse ele a si mesmo.
Passando a lanterna a Chester, ele girou as três alavancas e empurrou a porta.
— Está emperrada! — grunhiu. Ele tentou de novo, sem sucesso. — Pode me dar uma ajuda?
Chester se uniu a ele e, com os ombros colados na porta, os dois empurraram com toda a força. De repente, ela se abriu com um sibilar alto e uma golfada de ar, e eles tropeçaram para o desconhecido.
Agora as botas pisavam em paralelepípedos enquanto os garotos recuperavam o equilíbrio e se endireitavam. Diante deles, havia uma cena que ambos conheciam e, pelo tempo que vivessem, jamais se esqueceriam.
Era uma rua.
Eles se viram em um espaço enorme, quase tão largo quanto uma estrada, que fazia uma curva ao longe, à esquerda e à direita. E, do outro lado, viram que era iluminada por uma fila de lampiões altos de rua.
Mas o que realmente lhes tirou o fôlego ficava além dessas luzes, do lado mais distante da caverna. Estendendo-se até onde eles podiam ver, nas duas direções, havia casas.
Como que num transe, Will e Chester avançaram para esta aparição. Ao fazerem isso, a porta bateu atrás deles com tal força que os dois giraram.
— Uma brisa? — perguntou Chester ao amigo, com uma expressão confusa.
Will deu de ombros em resposta; podia mesmo sentir no rosto uma corrente de ar fraca. Ele deitou a cabeça para trás e cheirou, sentindo a umidade bolorenta do ar. Chester apontava a lanterna para a porta e depois começou a olhar a parede acima, iluminando os enormes blocos de pedra que a formavam. Ele elevou o círculo de luz, cada vez mais, e os olhos dos dois foram compelidos a seguir a parede até as sombras no alto, onde ela se encontrava com a parede oposta num grande arco, como o teto de uma catedral imensa.
— O que é tudo isso, Will? Que lugar é esse? — perguntou Chester, pegando-o pelo braço.
— Não sei... nunca soube de nada parecido — respondeu Will, olhando, arregalado, a rua enorme. — É verdadeiramente impressionante.
— O que vamos fazer agora?
— Acho que vamos... temos que dar uma olhada por aí, não é? Isso é simplesmente incrível — maravilhou-se Will. Ele lutou para organizar os pensamentos, infundido da primeira lufada inebriante da descoberta e consumido pelo impulso irresistível de explorar e saber mais. — Devia registrar isso — murmurou ele ao pegar a câmera e começar a tirar fotos.
— Will, não! O flash!
— Epa, desculpe. — Ele pendurou a câmera no pescoço. — Tem uma calçadinha ali. — Sem dizer mais nada a Chester, ele de repente andou pelos paralelepípedos na direção das casas. Chester seguiu o companheiro explorador, meio agachado e murmurando ao olhar a rua de cima a baixo em busca de algum sinal de vida.
Os prédios pareciam ser esculpidos nas próprias paredes, como fósseis arquitetônicos semi-escavados. Seus telhados se fundiam com as paredes de arco suave atrás e, onde se esperaria ver chaminés, havia uma rede complexa de dutos de tijolos brotando de cima dos telhados, que corriam pelas paredes e desapareciam no alto, como fumaça petrificada. Ao chegarem à calçada, o único som além de seus passos era um zumbido baixo, que parecia vir do próprio chão. Eles pararam brevemente para examinar uma das luzes da rua.
— Parece o...
— É — interrompeu Will, tocando inconscientemente o bolso, onde o globo luminescente do pai fora cuidadosamente embrulhado num lenço. A esfera de vidro do poste de rua era uma versão muito maior desta, quase do tamanho de uma bola de futebol, e era sustentada por um tipo de garra com quatro unhas no alto de um poste de ferro batido. Duas mariposas brancas como a neve circundavam as luzes erraticamente, tais quais luas epiléticas, as asas secas batendo na superfície do vidro.
Will enrijeceu repentinamente e, erguendo a cabeça para trás, farejou — não muito diferente do rato sem olhos na engrenagem.
— Que foi? — perguntou Chester com ansiedade. — Mais problemas não, né?
— Não, só pensei... ter sentido o cheiro de alguma coisa. Meio parecido com... amônia... algo acre. Não percebeu?
— Não. — Chester fungou várias vezes. — Espero que não seja venenoso.
— Bom, agora passou, o que quer que fosse. E estamos bem, não estamos?
— Parece que sim. Mas você acha que alguém realmente vive aqui? — respondeu Chester, ao olhar as janelas das casas. Eles voltaram a atenção para a casa mais próxima, silenciosa e agourenta, como se os desafiasse a se aproximar.
— Não sei.
— O que estamos fazendo aqui, então?
— Só há um jeito de descobrir — disse Will enquanto eles seguiam cuidadosamente para a casa. Era simples e elegante, construída de alvenaria em arenito, quase de estilo georgiano. Eles só puderam distinguir cortinas de brocado pesado atrás das janelas de duas folhas de cada lado da porta da frente, que era pintada de um verde brilhante e grosso feito melaço e tinha uma aldrava e um sino de bronze tremendamente polido.
— Cento e sessenta e sete — disse Will maravilhado ao ver os dígitos acima da aldrava.
— O que é este lugar? — Chester sussurrava enquanto Will via uma luz fraca em uma fresta entre as cortinas. A luz tremia, como se viesse de uma lareira.
— Shhh! — disse ele, ao se aproximar e se agachar abaixo da janela, depois erguer-se lentamente acima do peitoril e espiar com um olho só pelo pequeno espaço. Sua boca se abriu num pasmo silencioso. Ele podia ver o fogo ardendo numa lareira. Acima dela, havia um consolo escuro com vá-rios ornamentos de vidro. E com a luz do fogo dançando pela sala, ele pôde distinguir algumas cadeiras e um sofá, e as paredes, cobertas de quadros emoldurados de tamanhos variados.
— Vamos lá, o que tem aí? — disse Chester, nervoso, sem parar de olhar a rua vazia atrás, enquanto Will espremia a cara no vidro sujo.
— Não vai acreditar nisso! — respondeu ele, movendo-se de lado para deixar o amigo ver por si mesmo. Chester apertou ansiosamente o nariz na janela.
— Minha nossa! É uma sala de verdade! — disse ele, virando-se para olhar para Will, descobrindo que ele já estava em movimento, andando pela frente da casa. Ele parou ao chegar à esquina da construção.
— Ei! Espere por mim — sibilou Chester, apavorado por ser deixado para trás.
Entre esta construção e a seguinte na fila, um beco curto ia até a parede do túnel. Will colocou a cabeça na esquina e, satisfeito por não haver ninguém, acenou para Chester que eles deviam passar à casa seguinte.
— O número desta é 166 — disse Will ao examinar a porta da frente, quase idêntica à da primeira casa. Ele foi até a janela na ponta dos pés, mas não conseguiu ver nada através da vidraça escura.
— O que tem aí? — perguntou Chester.
Will levou um dedo aos lábios, depois voltou à porta da frente. Examinando-a mais de perto, ocorreu-lhe uma idéia e seus olhos se estreitaram. Reconhecendo aquele olhar, Chester estendeu a mão para tentar impedi-lo, gaguejando:
— Will, não!
Mas era tarde demais. Will mal havia tocado a porta quando ela girou para dentro. Eles trocaram olhares e os dois entraram bem devagar, um formigamento de excitação e medo surgindo em seu corpo.
O hall era espaçoso e quente, e os dois sentiram um potpourri de cheiros — comida, fumaça da lareira — e de habitação humana. Dispunha-se como qualquer casa normal; uma escada ampla começava no meio do cor-redor, com fixadores de bronze para o carpete na base de cada degrau. Painéis de madeira encerada iam até um corrimão, acima do qual havia um papel de parede de listras verde-claras e escuras. Quadros em molduras douradas e ornamentadas pendiam nas paredes, retratando pessoas de aparência robusta com ombros enormes e a face pálida. Chester olhava um deles quando lhe ocorreu uma idéia terrível.
— Eles são iguaizinhos aos homens que perseguiram a gente — disse ele. — Ah, que ótimo, estamos numa casa que pertence a um daqueles malucos, não é? Esta é a porcaria da cidade daqueles malucos! — acrescentou ele ao ter esta percepção medonha.
— Escute! — sibilou Will. Chester ficou parado onde estava enquanto o outro virava uma orelha na direção da escada, mas não havia nada, só um silêncio opressivo.
— Pensei ter ouvido... não... — disse ele, e avançou para a porta aberta à esquerda deles, depois virou cautelosamente no canto. — Isso é incrível! — Ele não conseguia se reprimir, tinha que entrar. E, desta vez, Chester também foi levado pela necessidade de saber mais.
Um fogo animado crepitava na lareira. Nas paredes, havia pequenas pinturas e silhuetas em molduras de bronze e douradas. Uma em particular chamou a atenção de Will: A Casa Martineau, dizia na inscrição embaixo. Era um pequeno quadro a óleo do que parecia ser uma casa imponente cercada de gramados ondulados.
Junto à lareira, havia cadeiras estofadas de um material vermelho escuro com um brilho fraco. Havia uma mesa de jantar em um canto, e, em outro, um instrumento musical que Will reconheceu ser uma espineta. Além da luz da lareira, a sala era iluminada por duas esferas do tamanho de bolas de tênis, suspensas do teto em grades de pechisbeque ornamentadas. Toda a coisa lembrou a Will um museu a que seu pai o levara, com uma exposição chamada Como vivíamos antigamente. Ao olhar em volta, ele refletiu que esta sala não ficaria deslocada lá.
Chester deslizou até a mesa de jantar, onde duas xícaras de porcelana branca estavam em seus pires.
— Tem coisa aqui — disse ele com uma expressão de surpresa. — Parece chá!
Ele tocou hesitante a lateral de uma das xícaras e olhou para Will, ainda mais sobressaltado.
— Ainda está quente. O que está havendo? Onde está todo mundo?
— Não sei — respondeu Will. — Parece... parece...
Eles se olharam com uma expressão confusa.
— Sinceramente não sei o que parece — admitiu Will.
— Vamos tratar de sair daqui — disse Chester, e os dois foram para a porta. Ao voltarem à calçada, Chester se chocou com Will quando ele parou de repente.
— É... a... parede — tagarelou Chester confuso, lutando para colocar os pensamentos em palavras. Por um momento, eles se demoraram, indecisos, sob a sublime radiância de uma luz de rua. Depois, Chester percebeu, desanimado, que Will estava olhando atentamente para a via, que fazia uma curva ao longe. — Vamos, Will, vamos para casa. — Chester tremeu ao olhar novamente a casa e as janelas, certo de que havia alguém ali. — Este lugar me dá arrepios.
— Não — respondeu Will, sem sequer olhar o amigo. — Vamos seguir mais um pouco a rua. Ver onde vai dar. Depois podemos ir embora. Eu prometo... tudo bem? — disse ele, já andando.
Chester ficou parado por um momento, olhando ansiosamente a porta de metal do outro lado da rua, pela qual eles chegaram. Depois, com um gemido resignado, seguiu Will pela fila de casas. Muitas tinham luzes nas janelas mas, pelo que eles podiam dizer, não havia sinal de seus ocupantes.
Ao se aproximarem da última casa da fila, onde a rua fazia uma curva para a esquerda, Will parou por um momento, deliberando se continuaria ou encerraria o dia. Com a voz aguda de desespero, Chester implorava que já era suficiente e que eles deviam voltar, até que ficaram cientes de um som atrás deles.
Começou como um farfalhar de folhas, mas rapidamente aumentou de intensidade até uma cacofonia seca e agitada.
— O que...! — exclamou Will.
Lançando-se do telhado, um bando de aves do tamanho de pardais mergulhou na direção deles, como traçantes balas vivas. Will e Chester se abaixaram por instinto, levantando os braços para proteger o rosto enquanto as aves de um branco puro rodopiavam em volta deles.
Will começou a rir.
— Passarinhos! São só passarinhos! — disse ele, enxotando o bando travesso, mas sem fazer contato. Chester abaixou os braços e começou a rir também, meio nervoso, enquanto as aves disparavam entre os dois. Em seguida, com a mesma rapidez com que apareceram, as aves subiram e desapareceram na curva do túnel. Will se endireitou e cambaleou alguns passos na direção delas, mas ficou paralisado.
— Lojas! — anunciou ele com uma voz assustada.
— Hein? — disse Chester.
Sem nenhuma dúvida, de um lado da rua estendia-se um desfile de lojas de fachada em arco. Mudos, os dois começaram a andar para elas.
— Isso é irreal — murmurou Chester ao chegarem à primeira loja, com uma vitrine de vidro artesanal que distorcia as mercadorias como lentes malfeitas.
— Trajes Jacobson — Chester leu a placa da loja, depois olhou os rolos de tecido dispostos no interior sinistro e iluminado de verde.
— Um mercadinho — disse Will, ao avançarem.
— E esta é uma espécie de loja de ferragens — observou Chester.
Will olhou o teto arqueado na caverna acima deles.
— Sabe de uma coisa, agora a gente deve estar quase debaixo da High Street.
Olhando as vitrines e embebendo-se da estranheza das lojas antigas, eles continuaram andando, impelidos pela curiosidade despreocupada, até que chegaram a um lugar onde o túnel se dividia em três. A confluência no meio parecia descer à terra numa inclinação acentuada.
— Tudo bem, então chega — disse Chester, resoluto. — Agora vamos embora. Eu não vou ficar perdido aqui. — Todos os seus instintos gritavam que eles deviam voltar.
Ele estava saindo da calçada e pegando a rua de paralelepípedos quando houve uma batida ensurdecedora de ferro em pedra. Numa rapidez de cegar, quatro cavalos brancos aproximaram-se dele, as faíscas se espalhando dos cascos, arfando e puxando um coche preto e sinistro. Will não teve tempo de reagir, porque naquele mesmo instante os dois foram arrancados do chão e içados ao ar pelo pescoço.
Um único homem segurava os dois, que balançavam impotentes em suas mãos enormes e nodosas.
— Intrusos! — gritou o homem, a voz feroz e grave ao erguer a dupla até seu rosto e examiná-los com uma expressão de repugnância. Will tentou pegar a pá para bater nele, mas foi arrancada de sua mão.
O homem vestia um capacete ridiculamente pequeno e um uniforme azul-escuro de tecido grosseiro que raspava quando ele se mexia. Ao lado de uma fila de botões opacos, Will pôde ver uma estrela de cinco pontas de um material alaranjado preso no casaco. Seu captor enorme e ameaçador claramente era uma espécie de policial.
— Socorro — murmurou Chester para o amigo, a voz abandonando-o enquanto eles lutavam para se livrar das garras do homem.
— Estávamos esperando por vocês — trovejou o homem.
— Como é? — Will o olhou com uma expressão vaga.
— Seu pai disse que se uniriam a nós em breve.
— Meu pai? Onde está o meu pai? O que vocês fizeram com ele? Me coloca no chão! — Will tentou girar o corpo, chutando o homem.
— Não adianta se contorcer. — O homem ergueu os dois meninos que lutavam ainda mais no ar e os farejou. — Povo da Crosta. Repugnante!
Will farejou também.
— Você aí não cheira muito bem.
O homem olhou para Will com um desprezo fulminante, depois ergueu Chester e o cheirou também. De puro desespero, Chester tentou dar uma cabeçada no homem. Ele afastou o rosto rapidamente, mas não antes de Chester ter arrancado seu capacete com um giro louco do braço. O objeto rodou da cabeça do homem, expondo o couro cabeludo pálido, coberto de tufos curtos de cabelo branco.
O homem sacudiu Chester violentamente pela gola e depois, com um rosnado horrível, bateu as cabeças dos meninos uma na outra. Embora os capacetes duros os tenham protegido de qualquer lesão quando se esbarraram com barulho, eles ficaram tão chocados com a ferocidade do homem que de imediato abandonaram qualquer idéia de resistir.
— Basta! — gritou o homem, e os meninos atordoados ouviram um coro de risos amargos atrás, tornando-se cientes pela primeira vez de outros homens que os fitavam com os olhos claros e inamistosos.
— Pensam que podem descer aqui e invadir nossas casas? — rosnou o homem enquanto os levava para a confluência no meio, onde a rua descia.
— Cárcere para os dois — grunhiu alguém atrás deles.
Eles foram arrastados sem a menor cerimônia pelas ruas, que agora se enchia de gente saindo de várias portas e becos para ver a infeliz dupla de estranhos. Meio arrastados e meio cambaleando, a cada vez que perdiam o passo, os garotos eram puxados para cima com selvageria pelo policial imenso. Era como se ele estivesse se exibindo para a platéia e dando um show de controle completo da situação.
Em toda a confusão e pânico, Will e Chester olharam freneticamente em volta na esperança vã de encontrar uma oportunidade de escapar, ou que alguém viesse em seu socorro. Mas seus rostos perderam o sangue à medida que a esperança diminuía e eles perceberam a gravidade de sua situação. Estavam sendo arrastados cada vez mais para o fundo das entranhas da terra e não havia absolutamente nada que pudessem fazer.
Antes que tivessem se dado conta, os dois foram conduzidos a uma curva no túnel e o espaço em volta se abriu. Ficaram atordoados por uma confusão estonteante de pontes, aquedutos e passarelas elevadas que cruzavam um emaranhado de ruas, avenidas e calçadas, todas ladeadas por construções.
Arrastados pelo policial a uma velocidade impossível, eles eram observados por amontoados de gente, as caras largas curiosas porém impassíveis. Mas nem todos os rostos eram como os de seu captor ou dos homens que os perseguiram na Highfield de cima, com a pele lívida e olhos descoloridos. Se não fosse por seus trajes antiquados, alguns teriam parecido bem normais e muito facilmente passariam despercebidos em qualquer rua inglesa.
— Socorro, socorro! — gritava Chester inutilmente enquanto reassumia sem entusiasmo suas tentativas de se livrar do aperto do policial. Mas Will mal percebia isso. Sua atenção fora capturada por um sujeito alto e magro ao lado de um poste, cuja expressão dura era encimada por uma gola totalmente branca e um casaco escuro e comprido que refletia a luz como se fosse feito de couro polido. Destacava-se notadamente das pessoas atarracadas perto dele, os ombros meio recurvados, como uma mesura muito tensa. Todo seu ser emanava maldade e seus olhos escuros não deixaram os de Will, que foi dominado por uma onda de pavor.
— Acho que temos um problema sério, Chester — disse ele, incapaz de afastar os olhos do homem sinistro, cujos lábios se retorciam num sorriso sardônico.
Capítulo Vinte e Um
Will e Chester foram arrastados aos tropeços até um pequeno lance de escada, entrando em uma construção térrea aninhada em meio ao que, para Will, eram escritórios ou fábricas comuns. Lá dentro, o policial os puxou abruptamente para os fazer parar e, girando-os, arrancou rudemente as mochilas das costas. Depois, literalmente atirou os dois meninos em um banco de carvalho escorregadio, a superfície marcada aqui e ali por reentrâncias polidas, como se os anos de malfeitores tivessem esfregado toda sua extensão. Will e Chester arfaram quando suas costas bateram na parede e a respiração lhes foi arrebatada.
— Não se movam! — rugiu o policial, posicionando-se entre eles e a entrada. Esticando o pescoço para frente, só o que Will podia ver além do homem eram as portas-janelas que davam para a rua, onde se formara uma multidão. Muitos se empurravam para poder ver, e alguns começaram a gritar coléricos e agitar os punhos ao terem um vislumbre de Will. Ele rapidamente se recostou e tentou ver os olhos de Chester, mas o amigo, completamente apavorado, encarava o chão.
Ao lado da porta, Will viu um quadro de avisos em que estava preso um grande número de papéis de bordas enegrecidas. A maior parte da escrita era pequena demais para ser decifrada de onde ele estava, mas ele conseguiu distinguir títulos manuscritos como Ordem ou Édito, seguidos por filas de números.
As paredes da delegacia eram pintadas de preto do chão ao corrimão, acima do qual eram de um branco amarelado, descascando em alguns lugares e manchadas de sujeira. O teto em si era de um amarelo nicotina desagradável com rachaduras fundas que iam para todo lado, como um mapa rodoviário de um país desconhecido. Na parede diretamente acima de Will, havia um quadro de um prédio que parecia ameaçador, com fendas à guisa de janelas e uma grade enorme atravessando a entrada principal. Will só conseguiu entender as palavras “Prisão de Newgate” escritas embaixo da imagem.
Do outro lado dos meninos havia um balcão comprido, em que o policial colocara as mochilas e a pá de Will, e além dele havia uma espécie de escritório em que três mesas eram cercadas por uma floresta de arquivos estreitos. Esta sala principal dava em várias salas menores e, de uma delas, vinha o bater rápido do que poderia ser uma máquina de escrever.
Quando Will estava olhando o canto mais distante da sala, onde uma profusão de canos de bronze percorria as paredes como os caules de uma videira antiga, ouviu-se um guincho que terminou numa pancada forte. O barulho foi tão repentino que Chester se sentou reto e piscou como um coelhinho nervoso, arrancado de seu torpor angustiado.
Outro policial saiu de uma sala lateral e correu até os canos de bronze. Ali, ele olhou um painel de mostradores antiquados, dos quais caía uma cascata de fios retorcidos que espiralavam para uma caixa de madeira. Depois, ele abriu uma portinhola em um dos canos, tirando dali um cilindro em formato de bala de revólver, do tamanho de um rolinho de pastel. Desenroscando a tampa em uma ponta, extraiu um rolo de papel que estalou quando ele o esticou para ler.
— Os Styx estão a caminho — rosnou ele, andando para o balcão e abrindo um livro de registros grande, sem olhar nem uma vez na direção dos garotos. Ele também tinha uma estrela alaranjada presa no casaco e, embora fosse muito parecido com o outro policial, era mais novo e a cabeça era coberta de cabelos brancos bem curtinhos.
— Chester — sussurrou Will. Como o amigo não reagiu, ele esticou a mão para cutucá-lo. Num átimo, um cassetete chicoteou, batendo rapidamente nos nós de seus dedos.
— Desista! — ladrou o policial ao lado deles.
— Ai! — Will pulou do banco, os punhos cerrados. — Desgraçado... — gritou ele, o corpo tremendo, tentando se controlar. Chester estendeu a mão e pegou seu braço.
— Fica quieto, Will!
Will afastou a mão de Chester com raiva e encarou os olhos frios do policial.
— Quero saber por que estamos sendo presos — exigiu ele.
Por um momento terrível eles pensaram que a cara do policial ia explodir, tal o vermelho vivo que adquiriu. Mas, depois, seus ombros enormes começaram a se erguer e ressoou um riso baixo e áspero, que ficava cada vez mais alto. Will olhou de lado para Chester, que fitava o policial com alarme.
— BASTA! — A voz do homem atrás do balcão estalou feito um chicote quando ele desviou a cara do livro, o olhar caindo no policial risonho, que de imediato se calou. — VOCÊ! — O homem fez uma carranca para Will. — SENTE-SE! — Sua voz tinha tal autoridade que Will não hesitou nem por um segundo, assumindo seu lugar rapidamente ao lado de Chester. — Eu... — continuou o homem, estufando com arrogância o peito de barril — sou o Primeiro Oficial. Vocês já travaram conhecimento com o Segundo Oficial. — Ele assentiu na direção do policial parado ao lado deles.
O Primeiro Oficial olhou para o rolo de papel do tubo de mensagem.
— Por meio desta, vocês são acusados de entrada ilegal e violação do Inciso Quarto do Estatuto Doze, Subseção Dois — leu ele com a voz monótona.
— Mas... — começou Will humildemente.
O Primeiro Oficial o ignorou e leu.
— Ademais, entraram sem permissão em uma propriedade com intenção de furtar, contrariando o Estatuto Seis, Subseção Seis — continuou ele categoricamente. — Compreendem estas acusações?
Will e Chester trocaram um olhar confuso e Will estava prestes a responder quando o Primeiro Oficial o interrompeu.
— Agora, o que temos aqui? — disse ele, abrindo as mochilas dos dois e esvaziando o conteúdo no balcão. Ele pegou os sanduíches em papel de alumínio que Will preparara e, sem se incomodar em abri-los, apenas os cheirou. — Ah, porco — acrescentou ele com uma sugestão de sorriso. E pelo modo como lambeu os lábios brevemente e entortou a boca, Will sabia que tinha visto o fim de seu lanche embrulhado.
Depois, o Primeiro Oficial voltou sua atenção para os outros itens, examinando-os metodicamente. Demorou-se na bússola, mas ficou mais fascinado com o canivete suíço, puxando cada uma de suas oito lâminas e apertando a tesourinha com os dedos grossos antes de finalmente baixá-lo. Rolando casualmente urna das bolas de barbante no balcão com uma das mãos, ele usou a outra para abrir o mapa geológico dobrado que estava na mochila de Will, fazendo uma inspeção apressada. Por fim, inclinou-se e cheirou o mapa, franzindo a cara com nojo, antes de passar para a câmera.
— Hammm — murmurou ele pensativamente, virando-a em seus dedos de banana para considerá-la de vários ângulos.
— É minha — disse Will.
O Primeiro Oficial o ignorou totalmente e, baixando a câmera, pegou uma caneta e a mergulhou em um tinteiro no balcão. Com a caneta posicionada sobre uma página do livro aberto, ele deu um pigarro.
— NOME! — berrou ele, lançando um olhar para Chester.
— É, humm, Chester... Chester Rawls — gaguejou o menino.
O Primeiro Oficial escreveu no livro de registro. O ruído da ponta da caneta na página era o único som na sala e Will de repente se sentiu completamente desamparado, como se entrar no registro colocasse em movimento um processo irreversível, cujo funcionamento estava muito além de sua compreensão.
— E VOCÊ? — ele rebateu para Will.
— Ele me disse que meu pai está aqui — disse Will, apontando corajosamente o dedo para o Segundo Oficial. — Onde ele está? Quero vê-lo agora!
O Primeiro Oficial olhou o colega do outro lado da sala e depois se voltou para Will.
— Não verá ninguém, a não ser que lhe seja ordenado. — Ele lançou outro olhar ao Segundo Oficial e franziu o cenho com indisfarçada censura. O Segundo Oficial evitou seus olhos e se remexeu inquieto de um pé para outro.
— NOME!
— Will Burrows — respondeu Will lentamente.
O Primeiro Oficial pegou o rolo e o consultou de novo.
— Não é o nome que tenho aqui — disse ele, sacudindo a cabeça e fixando os olhos de aço em Will.
— Não ligo para o que diz aí. Sei qual é o meu nome.
Houve um silêncio ensurdecedor enquanto o Primeiro Oficial continuava a encarar Will. Depois, ele fechou abruptamente o livro num baque, levantando uma nuvem de poeira na superfície do balcão.
— LEVE-OS PARA O CÁRCERE! — ladrou ele apopleticamente.
Eles foram colocados de pé com um puxão e, no momento em que eram arrastados rudemente por uma grande porta de carvalho no final da recepção, ouviram outro sibilar seguido de uma pancada surda, quando mais uma mensagem chegava pelo sistema de tubos.
O corredor de ligação para o Cárcere tinha uns vinte metros e era mal iluminado por um único globo na extremidade, abaixo do qual havia uma mesa e uma cadeira de madeira. Uma parede nua ocupava todo o lado direito e na oposta havia quatro portas de ferro fosco afundadas nos tijolos sólidos. Os meninos foram empurrados para a porta mais distante, em que havia o número quatro pintado em algarismos romanos.
O Segundo Oficial a abriu com sua chave, que girou silenciosa para dentro nas dobradiças lubrificadas. Ele deu um passo para o lado. Olhando os garotos, inclinou a cabeça para a cela e como eles estacaram inseguros na soleira, perdeu a paciência e os empurrou com as mãos enormes, batendo a porta às costas deles
Dentro da cela, a batida da porta reverberou de forma nauseante nas paredes e seus estômagos reviraram enquanto a chave era girada na fechadura. Os amigos tentaram distinguir os detalhes da cela escura e úmida pelo tato e Chester conseguiu derrubar um balde com estrondo ao andar. Descobriram que havia uma saliência revestida de chumbo, com um metro de extensão, correndo pela parede diretamente de frente para a porta e, sem trocar uma palavra, os dois se sentaram. Sentiram a superfície áspera, fria e pegajosa sob as palmas das mãos enquanto os olhos aos poucos se adaptavam à única fonte de luz na cela, a fraca iluminação que entrava por uma janelinha de observação na porta. Por fim, Chester quebrou o silêncio, fungando alto.
— Cara, mas que cheiro é esse?
— Não sei bem — disse Will enquanto também farejava. — Vômito? Suor? — Depois ele cheirou novamente e declarou, com o ar de um especialista: — Ácido carbólico e... — Farejando mais uma vez, acrescentou: — Será enxofre?
— Hein? — murmurou o amigo.
— Não, repolho! Repolho cozido!
— Não ligo para o que é, isso fede — disse Chester, franzindo a cara. — Este lugar é muito tosco. — Ele se virou para olhar o amigo no escuro. — Como vamos sair daqui, Will?
Will trouxe os joelhos ao queixo e pousou os pés na beira da saliência. Cocou a panturrilha, mas não disse nada. Estava furioso consigo mesmo e não queria que o amigo percebesse nada do que sentia. Talvez Chester, com sua abordagem cautelosa e seus alertas freqüentes, estivesse certo o tempo todo. Ele trincou os dentes e cerrou os punhos no escuro. Idiota, idiota, idiota! Os dois vacilaram como uma dupla de amadores. Ele se permitiu ficar empolgado demais. E como ia encontrar o pai agora?
— Tenho uma sensação supermedonha com tudo isso — continuou Chester, desolado, agora olhando o chão. — Nunca mais vamos ver a nossa casa de novo, não é?
— Olha, não se preocupe. Achamos um jeito de entrar aqui e tenho certeza de que vamos encontrar uma droga de saída — disse Will com confiança, numa tentativa de tranqüilizar o amigo, embora ele mesmo se sentisse tremendamente desconfortável com a situação atual.
Nenhum dos dois estava com muita vontade de falar e a sala se encheu do invariável zumbido e o movimento apressado e errático de insetos que eles não viam.
Will acordou sobressaltado, tomando fôlego como se estivesse sem ar. Ficou surpreso ao descobrir que na verdade cochilara meio sentado na saliência de chumbo. Quanto tempo dormiu? Viu, com os olhos baços, a sala escura. Chester estava de pé com as costas na parede, encarando arregalado a porta da cela. Will quase podia sentir o medo que emanava dele. Automaticamente, seguiu o olhar de Chester para a janelinha de observação: emoldurada na abertura, estava a cara do Segundo Oficial, olhando de banda mas, devido ao tamanho de sua cabeça, só os olhos e o nariz eram visíveis.
Ouvindo a chave chiar na fechadura, Will observou os olhos do homem se estreitarem e depois a porta se abriu, revelando a silhueta do policial na soleira da porta, como um cartum monstruoso.
— VOCÊ! — disse ele a Will. — PARA FORA, AGORA!
— Por quê? Para quê?
— ANDANDO! — ladrou o policial.
— Will? — chamou Chester com ansiedade.
— Não se preocupe, Chester, vai ficar tudo bem — disse Will numa voz fraca ao se levantar, as pernas com cãibras e rígidas da umidade. Ele as esticou ao sair desajeitado da cela e entrar no corredor. Depois, sem ser solicitado, começou a seguir para a porta principal do Cárcere.
— Parado! — gritou o Segundo Oficial ao trancar a porta de novo. Depois, pegando o braço de Will num aperto doloroso, conduziu-o para fora do Cárcere, percorrendo uma sucessão de corredores escuros, os passos ecoando ocos nas paredes caiadas e lascadas e no piso de pedra crua. Por fim, viraram num canto e chegaram a uma escada estreita que levava a uma passagem curta e sem saída. Tinha cheiro de umidade e terra, como um porão antigo.
Uma luz forte saía de uma porta aberta a meio caminho dali. Ao se aproximarem de lá, um pavor cresceu na boca do estômago de Will, ele foi empurrado para a sala bem iluminada por seu acompanhante e foi parado abruptamente. Tonto pela luz, o garoto semicerrou os olhos para ver o ambiente.
Não havia nada na sala, a não ser uma estranha cadeira e uma mesa de metal, atrás da qual duas figuras altas estavam de pé, os corpos magros re-curvados de modo que as cabeças quase se tocavam ao trocarem sussurros urgentes e conspiratórios. Will se esforçou para entender o que diziam, mas não parecia ser uma língua que ele reconhecesse, pontuada por uma série alarmante de ruídos agudos, irregulares e muito peculiares. Por mais que tentasse, não conseguiu distinguir uma só palavra; era completamente ininteligível para ele.
Assim, com o braço ainda firme na garra do policial, Will ficou de pé e esperou, o estômago dando nós de tensão nervosa enquanto seus olhos se acostumavam com a claridade. De vez em quando, os homens estranhos o olhavam fugazmente, mas Will não se atreveu a dizer nada na presença desta autoridade nova e sinistra.
Eles se vestiam de forma idêntica, com golas brancas e imaculadas no pescoço. Estas eram tão grandes que caíam pelos ombros de seus casacos de couro duro e compridos, que estalavam quando os homens gesticulavam entre eles. A pele de seus rostos esqueléticos, da cor de massa de vidraceiro fresca, só servia para destacar os olhos negros. O cabelo, raspado alto nas têmporas, era esticado para trás, e assim eles pareciam usar solidéus brilhantes.
Inesperadamente, eles pararam o que faziam e se viraram para Will.
— Estes cavalheiros são os Styx — disse o Segundo Oficial atrás dele — e você responderá às perguntas deles.
— Cadeira — disse o Styx da direita, os olhos negros fixos e resolutos em Will.
Ele apontou a mão de dedos longos para a cadeira estranha que estava entre a mesa e Will. Tomado por um pressentimento, Will não protestou quando o policial o sentou. Uma barra de metal ajustável se ergueu das costas da cadeira, com dois grampos acolchoados no alto para prender a cabeça de seu ocupante. O policial ajustou a altura da barra, depois apertou os grampos, pressionando-os firmemente nas têmporas de Will. Ele tentou virar a cabeça para olhar o policial, mas as amarras o contiveram rapidamente. Enquanto era preso, Will percebeu que não tinha alternativa nenhuma a não ser encarar os Styx, que estavam postados atrás da mesa como padres avarentos.
O policial parou. Pelo canto do olho, Will o viu pegar alguma coisa de baixo da cadeira, depois ouviu velhas tiras de couro estalarem e fivelas grandes matraquearem quando os dois pulsos foram presos a cada coxa correspondente.
— Para que isso? — Will ousou perguntar.
— Para sua própria proteção — disse o policial que, agachando-se, prendia outras tiras nas pernas de Will, pouco abaixo dos joelhos, passando-as pelas pernas da cadeira. Os tornozelos foram então presos de forma semelhante, o policial puxando as amarras com tanta força que morderam impiedosamente e Will se retorceu de desconforto. Ele percebeu, com certo desânimo, que isto parecia divertir os Styx. Por fim, uma tira de uns dez centímetros de largura foi passada por seu peito e pelos braços, e amarrada atrás da cadeira. O policial, em seguida, postou-se atento até que um dos Styx assentiu silenciosamente e ele saiu da sala, fechando a porta.
Sozinho com os dois, Will observou num silêncio apavorado enquanto um dos Styx pegava uma lamparina de aparência estranha e a colocava no meio da mesa, de frente para Will. Tinha uma base sólida e um braço curto e curvo encimado por um quebra-luz cônico e raso. Este protegia o que parecia ser uma lâmpada roxa; lembrou a Will de uma lâmpada ultravioleta antiga que vira no museu do pai. Uma caixinha preta, com mostradores e comutadores, foi colocada ao lado dela e o Styx conectou a lamparina à caixa por meio de um cabo marrom retorcido. O dedo pálido ligou um comutador e a caixa começou a zumbir suavemente.
Um Styx recuou da mesa enquanto o outro continuou curvado sobre a lamparina, manipulando os controles atrás do quebra-luz. Com um estalo alto, por um instante a lâmpada assumiu uma luminosidade laranja e fraca, e depois pareceu se apagar de novo.
— Vai tirar minha foto? — perguntou Will num esforço malsucedido de fazer graça, enquanto tentava estabilizar o tremor em sua voz. Ignorando-o, o Styx girou o controle da caixa preta como se estivesse sintonizando um rádio.
De forma alarmante, uma pressão desagradável começou a subir por trás dos olhos de Will. Ele abriu a boca num grito mudo, tentando aliviar a estranha tensão nas têmporas, quando a sala começou a escurecer, como se o dispositivo estivesse literalmente sugando toda a luz que havia ali. Pensando que estava ficando cego, Will piscou várias vezes e abriu os olhos o máximo que pôde. Com a maior dificuldade, só conseguiu distinguir os dois Styx em silhueta na fraca luz refletida na parede atrás deles.
Ele sentiu um zumbido pulsante, mas nem que sua vida dependesse disso ia conseguir localizar sua origem. À medida que ficava mais intenso, a cabeça ficava decididamente estranha, como se cada osso e nervo estivesse vibrando. Era como se um avião sobrevoasse sua cabeça baixo demais. A ressonância pareceu se transformar numa bola eriçada de energia no meio da cabeça. Agora ele realmente começou a entrar em pânico mas, sem conseguir mover um músculo que fosse, Will nada pôde fazer para resistir.
Enquanto os Styx manipulavam os controles, a bola pareceu mudar, afundando lentamente por seu corpo, indo até o peito e circundando o coração, tirando-lhe o fôlego e provocando urna tosse involuntária. Depois entrava e saía, às vezes parando um pouco e adejando a pouca distância atrás dele. Era como se um ser vivo estivesse se alojando, procurando por alguma coisa. Ela mudou outra vez e agora oscilava metade dentro, metade fora de seu corpo, na altura da nuca.
— O que está havendo? — perguntou Will, tentando reunir alguma coragem, mas não houve resposta das figuras cada vez mais escuras. — Não estão me assustando com isso, sabiam?
Eles continuaram em silêncio.
Will fechou os olhos por um segundo, mas quando os abriu novamente, não conseguiu sequer distinguir os contornos dos Styx na total escuridão que confrontava. Ele começou a lutar com suas amarras.
— A ausência de luz o incomoda? — perguntou o Styx da esquerda.
— Não, por que incomodaria?
— Qual é o seu nome? — As palavras entraram na cabeça de Will como uma faca saída das sombras.
— Eu já disse, é Will. Will Burrows.
— Seu nome verdadeiro! — Novamente a voz provocou um estremecimento de dor em Will, como se cada palavra criasse choques elétricos em suas têmporas.
— Não sei o que quer dizer — respondeu ele através dos dentes trincados.
A bola de energia começou a vagar para o meio de seu crânio, o zumbido agora se tornando mais intenso, a pulsação envolvendo-o em um manto espesso de pressão.
— Você está com o homem chamado Burrows?
A cabeça de Will girava e ondas de dor passavam por ele. Seus pés e mãos formigavam de um jeito desagradável, com alfinetadas e agulhadas intensas. Aos poucos, esta sensação horrível foi envolvendo seu corpo.
— Ele é meu pai! — gritou ele.
— Qual é seu propósito aqui? — Agora a voz clara e apocopada estava mais próxima.
— O que vocês fizeram com ele? — perguntou Will numa voz sufocada, engolindo o jato de saliva que inundava a boca. Sentiu que ia vomitar a qualquer momento.
— Onde está a sua mãe? — A voz cadenciada e insistente agora parecia emanar da bola em sua cabeça. Era como se os dois Styx tivessem entrado em seu crânio e procurassem febris por sua mente, como ladrões saqueando gavetas e armários em busca de objetos valiosos.
— Qual é o seu propósito? — repetiram eles.
Will tentou se livrar das amarras, mas percebeu que não conseguia mais sentir o próprio corpo. Na realidade, parecia que tinha sido reduzido apenas a uma cabeça flutuante, à deriva numa névoa de escuridão, e ele perdeu completamente o senso de orientação.
— NOME? PROPÓSITO? — As perguntas chegaram guturais e rápidas enquanto Will sentiu toda a energia que lhe restava se esvair dele. Depois, a voz incessante ficou mais fraca, como se Will estivesse se afastando. De uma grande distância, as palavras eram gritadas atrás dele e cada palavra, quando finalmente chegava, criava alfinetadas de luz à margem de sua visão, alfinetadas que deslizavam e se agitavam até que a escuridão diante dele se encheu de um mar fervilhante de pontos brancos, tão claros e tão intensos que seus olhos doeram. E, o tempo todo, os sussurros ásperos moviam-se por ele e a sala girava e se arremessava. Outra onda funda de náusea o dominou. Branco, branco, um branco ofuscante, enchendo a cabeça até parecer que ela ia explodir.
— Eu vou vomitar... por favor... eu vou... me sinto fraco... por favor. — E a luz do espaço branco chamuscou dentro dele e ele se sentiu cada vez menor, até que era uma manchinha minúscula no imenso espaço branco. Depois, a luz começou a recuar e a sensação de ardência foi diminuindo, então tudo ficou negro e silencioso, como se o próprio universo tivesse desaparecido.
Ele voltou a si quando o Segundo Oficial, segurando-o sob um dos braços, girou a chave na porta da cela. Will estava trêmulo e fraco. A frente de suas roupas estava suja de vômito e a boca estava seca, com um travo metálico acre que lhe dava náuseas. A cabeça martelava de dor e, ao tentar olhar para cima, foi como se parte de sua visão tivesse desaparecido. Não conseguiu reprimir um gemido quando a porta foi aberta.
— Não está tão presunçoso agora, hein? — disse o policial, soltando o braço de Will. Ele tentou andar, mas as pernas pareciam gelatina. — Não depois de sua primeira prova da Luz Negra zombou o policial.
Depois de alguns passos, as pernas de Will cederam e ele tombou de joelhos. Chester apressou-se até ele, em pânico ao ver o estado do amigo.
— Will, Will, o que fizeram com você? — Chester estava frenético ao ajudá-lo a subir na saliência. — Você ficou fora por horas.
— Só cansado... — Will conseguiu murmurar ao desabar na saliência e se enrascar feito uma bola, grato pela frieza do revestimento de chumbo em sua cabeça dolorida. Ele fechou os olhos... só queria dormir... mas a cabeça ainda girava e ondas de náusea irrompiam por seu corpo.
— VOCÊ! — berrou o policial. Chester deu um pulo ao lado de Will e se virou para o policial, que acenou com o indicador grosso.
— Sua vez.
Chester olhou para Will, que agora estava inconsciente.
— Ah, não.
— AGORA! — ordenou o policial. — Não me faça pedir novamente.
Chester foi relutante para o corredor. Depois de trancar a porta, o policial o pegou pelo braço e o fez andar.
— O que é uma Luz Negra? — disse Chester, os olhos vidrados de medo.
— Só perguntas. — O policial sorriu. — Não há nada com que se preocupar.
— Mas eu não sei de nada...
Will foi despertado pelo som de uma abertura sendo puxada na base da porta.
— Comida — anunciou, friamente, uma voz.
Ele estava faminto. Ergueu-se sobre um braço só, o corpo doendo tremendamente, como se ele estivesse gripado. Cada osso e cada músculo reclamavam quando ele tentava se mexer.
— Ah, meu Deus — gemeu ele, e depois de repente pensou em Chester. A janelinha aberta da comida iluminava a cela um pouco mais do que o habitual e, ao olhar em volta, ali no chão, abaixo da saliência revestida de chumbo, estava seu amigo, deitado em posição fetal. A respiração de Chester era superficial e seu rosto, lívido e febril.
Will cambaleou e, com dificuldade, levou as duas bandejas para a saliência. Examinou o conteúdo brevemente. Havia duas tigelas com alguma coisa e um líquido em canecas amassadas de estanho. Tudo parecia terrivelmente insosso, mas pelo menos era quente e o cheiro não era tão ruim.
— Chester? — disse ele, agachando-se ao lado do amigo. Will se sentia péssimo, ele, e só ele, era o responsável por tudo o que vinha acontecendo aos dois. Começou a sacudir Chester delicadamente pelo ombro. — Ei, está tudo bem?
— Argh... o q...? — gemeu o garoto, e tentou levantar a cabeça. Will pôde ver que o nariz dele estivera sangrando; o sangue tinha coagulado e sujava seu rosto.
— Comida, Chester. Vamos, vai se sentir melhor depois que comer alguma coisa.
Will colocou Chester sentado, apoiando suas costas na parede. Ele umedeceu a manga com o líquido de um dos copos e começou a tirar o sangue do rosto de Chester.
— Me deixa em paz! — objetou Chester fraquinho, tentando empurrá-lo.
— Bom, isso é um começo. Toma, come alguma coisa — disse Will, passando uma tigela a Chester, que de imediato a afastou.
— Não estou com fome. Me sinto péssimo.
— Pelo menos beba um pouco disso. Acho que é uma espécie de chá de ervas. — Will passou a bebida a Chester, que fechou as mãos em concha na caneca quente. — O que eles perguntaram a você? — murmurou Will comendo um bocado de papa cinzenta.
— Tudo. Nome... endereço... seu nome... todas essas coisas. Não consigo me lembrar da maior parte delas. Acho que desmaiei... na verdade pensei que ia morrer — disse Chester numa voz monocórdia, encarando à meia distância.
Will começou a rir baixinho. Embora parecesse estranho, de algum modo parecia encontrar alívio para o próprio sofrimento ao ouvir as queixas do amigo.
— Qual é a graça? — perguntou Chester, a voz ultrajada. — Não é nada engraçado.
— Não. — Will deu uma risadinha. — Eu sei. Desculpe. Toma, experimente um pouco disso. Na verdade é muito bom.
Chester estremeceu de nojo para a lama cinzenta na tigela. Entretanto, pegou a colher e a colocou na papa, um tanto desconfiado no começo. Depois, a cheirou.
— Não tem um cheiro tão ruim — disse ele, tentando se convencer.
— Só coma essa porcaria, está bem? — disse Will, enchendo a boca de novo. Ele sentiu as forças começarem a voltar a cada bocado. — Continuo achando que disse a eles alguma coisa sobre a mamãe e a Rebecca, mas não tenho certeza se não foi um sonho. — Ele engoliu, depois ficou em silêncio por vários segundos, mordendo o interior da boca enquanto algo começava a perturbá-lo. — Só espero que não tenha metido as duas em nenhuma enrascada também. — Ele pegou outra colherada e, ainda mastigando, continuou a falar ao lhe ocorrer outra lembrança. — E o diário do papai... eu o fico vendo em minha mente, com toda clareza... como se eu estivesse lá, observando, enquanto aqueles dedos brancos e compridos o abriam e viravam as páginas, uma por uma. Mas não pode ter acontecido, pode? Está tudo tão confuso. E você?
Chester se remexeu um pouco.
— Não sei. Posso ter falado do porão da sua casa... E de sua família... sua mãe... e Rebecca... sim... e posso ter dito alguma coisa sobre ela... mas... ah, meu Deus, sei lá... é muito confuso. É como se eu não conseguisse me lembrar se eu disse, ou se pensei. — Ele baixou a caneca e aninhou a cabeça nas mãos enquanto Will se recostava, olhando o teto escuro.
— Que horas serão — ele suspirou — lá em cima?
Pelo que deve ter sido a semana seguinte, houve outros interrogatórios com os Styx, a Luz Negra deixando os mesmos efeitos colaterais medonhos de antes: exaustão, uma incerteza tonta sobre exatamente o que tinham contado aos torturadores e as apavorantes crises de náusea que se seguiam.
Então, chegou o dia em que os garotos foram deixados em paz. Embora não pudessem ter certeza, os dois achavam que, àquela altura, os Styx deviam ter conseguido tudo o que queriam, e eles esperavam fervorosamente que as sessões enfim tivessem acabado.
E, assim, as horas passaram e os dois dormiam espasmodicamente, as refeições iam e vinham, e eles dividiam o tempo entre andar pelo chão, quando se sentiam fortes para isso, e descansar na saliência, e até de vez em quando gritar na porta, mas sem proveito algum. E na luz constante e imutável, eles perderam o senso de tempo, e do dia ou da noite.
Para além das paredes da cela, os tortuosos processos estavam em andamento: investigações, reuniões e tagarelices decidiam seu destino, tudo na linguagem secreta e áspera dos Styx.
Ignorando isso, os garotos se esforçaram ao máximo para manter o moral alto. Aos sussurros, conversaram muito sobre como podiam escapar e se Rebecca acabaria juntando as peças e levando as autoridades ao túnel do porão. Como se xingaram por não terem deixado um bilhete! Ou talvez o pai de Will fosse a resposta a seus problemas — será que ele de algum modo os tiraria dali? E que dia da semana era? E, mais importante, como não se lavavam há algum tempo, suas roupas deviam ter adquirido um aroma decididamente pavoroso e, sendo este o caso, por que eles não achavam que estavam fedendo?
Foi durante um debate particularmente animado, sobre quem eram estas pessoas e de onde elas vinham, que a janelinha de inspeção se abriu e o Segundo Oficial olhou de banda. Os dois imediatamente silenciaram enquanto a porta foi destrancada e a figura familiar e horrenda eclipsou toda a luz do corredor. Qual deles seria desta vez?
— Visitas.
Eles se olharam, sem acreditar.
— Visitas? Para nós? — perguntou Chester, incrédulo.
O policial sacudiu a cabeça enorme, depois olhou para Will.
— Você.
— E o Ches...?
— Você, venha. AGORA! — gritou o policial.
— Não se preocupe, Chester. Não vou a lugar nenhum sem você — disse Will, com confiança, ao amigo, que se sentou com um sorriso magoado e assentiu silenciosamente.
Will se levantou e tropeçou para fora da cela. Chester observou a porta se fechar. Vendo-se mais uma vez sozinho, ele olhou as mãos, rudes e entranhadas de terra, e ansiou pela casa e por conforto. Sentia a pontada cada vez mais freqüente de frustração e desamparo, e seus olhos se encheram de lágrimas quentes. Não, ele não ia chorar, não daria essa satisfação a eles. Sabia que Will ia conseguir alguma coisa e que ele estaria pronto quando a hora chegasse.
— Vamos lá, idiota — disse ele baixinho a si mesmo, esfregando a manga da camisa nos olhos. — Baixe aí e me faça vinte — ele imitou a voz do treinador de futebol enquanto se jogava no chão e começava a fazer flexões, contando em voz alta.
Will foi levado a uma sala caiada com um piso polido e algumas cadeiras arrumadas em volta de uma grande mesa de carvalho. Sentadas atrás dela havia duas figuras, meio turvas porque sua visão ainda se adaptava depois da escuridão do Cárcere. Ele esfregou os olhos e se olhou. Sua camisa estava suja e, pior, salpicada de vestígios secos de vômito. Ele a esfregou fracamente antes de sua atenção ser atraída a uma abertura ou janela estranha na parede à esquerda. A superfície do vidro, se é que era vidro, tinha uma profundidade peculiar preta-azulada. E esta superfície fosca e mosqueada não parecia refletir a luz dos globos na sala.
Por algum motivo, Will não conseguia tirar os olhos da superfície. Sentiu uma pontada súbita de reconhecimento. Foi inundado por uma sensação nova e no entanto conhecida: eles estavam ali atrás. Eles estavam observando tudo. E, quanto mais ele olhava, mais a escuridão o enchia, como acontecera com a Luz Negra. Sentiu um súbito espasmo na cabeça. Inclinou-se para frente como se estivesse prestes a desmaiar; a mão esquerda tateou desvairada e encontrou o encosto da cadeira diante dele. O policial, vendo isso, pegou-o pelo outro braço e o ajudou a se sentar, de frente para os dois estranhos.
Will respirou fundo algumas vezes e a vertigem passou. Ele olhou quando alguém tossiu. Diante dele, sentava-se um homem grandalhão e, ao lado, mas um pouco para trás, um jovem. O homem era muito parecido com todos os outros que Will havia visto — podia muito bem ser o Segundo Oficial à paisana. Olhava fixamente para Will com um desdém mal disfarçado. Will se sentia extenuado demais para se importar com aquilo e retribuiu num torpor o olhar do estranho.
Depois, enquanto as pernas da cadeira raspavam no chão fazendo barulho e o garoto se aproximava da mesa, Will concentrou sua atenção nele. O menino olhava para Will com admiração. Tinha a cara franca e simpática, o primeiro semblante amistoso que ele via aqui embaixo desde que fora preso. Will estimava que o menino devia ser alguns anos mais novo do que ele. O cabelo era quase branco e cortado baixo, e os suaves olhos azuis brilhavam de malícia. Enquanto os cantos da sua boca se curvavam num sorriso, Will pensou que ele parecia meio conhecido. Tentou desesperadamente se lembrar de onde o vira antes, mas sua mente ainda estava toldada e obscura demais. Semicerrou os olhos para o menino e tentou novamente deduzir de onde o conhecia, mas foi em vão. Era como se ele tivesse sido atirado em um poço escuro, tentando encontrar alguma preciosidade com apenas o tato lhe servindo de guia. Sua cabeça começou a girar, ele cerrou os olhos e os manteve assim.
Ouviu o homem dar um pigarro.
— Eu sou o sr. Jerome — disse ele num tom de voz monótono e superficial. Pela voz, era claro que a situação o contrariava e ele estava muito ressentido por estar ali. — Este é meu filho...
— Cal — Will ouviu o menino dizer.
— Caleb — corrigiu o homem rapidamente.
Houve uma pausa longa e desagradável, mas Will ainda não abrira os olhos. Sentia-se isolado e seguro com eles fechados. Era estranhamente reconfortante.
O sr. Jerome olhou de mau humor o Segundo Oficial.
— Isto é inútil — grunhiu ele. — É uma maldita perda de tempo.
O policial se inclinou para a frente e espicaçou bruscamente o ombro de Will.
— Sente-se direito e seja civilizado com sua família. Demonstre algum respeito.
Sobressaltado, os olhos de Will se abriram de repente. Ele se virou na cadeira e olhou surpreso o policial.
— O quê?
— Eu disse para ser civilizado — ele assentiu para o sr. Jerome — com sua família, com os seus.
Will voltou a olhar o homem e o menino.
— Qual é a de vocês?
O sr. Jerome deu de ombros e olhou para baixo, e o menino franziu a testa, o olhar passando entre Will, o policial e o pai, como se não entendes-se o que estava acontecendo.
— Chester tem razão, vocês todos são malucos aqui embaixo! — exclamou Will, e se encolheu quando o Segundo Oficial deu um passo para ele com a mão erguida. Mas a situação se acalmou quando o menino falou.
— Deve se lembrar disso — disse ele, cavando em uma velha bolsa de lona no colo. Todos os olhos estavam nele quando, finalmente, pegou um pequeno objeto e colocou na mesa diante de Will. Era um brinquedo entalhado em madeira, um rato ou camundongo. A cara pintada de branco estava lascada e desbotada e a pelagem estava puída, e no entanto os olhos brilhavam sinistramente. Cal olhou cheio de expectativa para Will.
— A vovó disse que era o seu preferido — continuou ele, porque Will demorava a reagir. — Deram a mim depois que você foi embora.
— O que você está...? — perguntou Will, perplexo. — Depois que eu fui embora?
— Não se lembra de nada? — perguntou Cal. Ele olhou com deferência para o pai, que agora estava recostado na cadeira, de braços cruzados.
Will estendeu a mão e pegou o brinquedinho para examiná-lo mais de perto. Ao passar a ponta dos dedos no dorso, percebeu que os olhos se fechavam, uma persiana minúscula equilibrada na cabeça para extinguir a luz. Ele percebeu que devia haver um globo em miniatura dentro da cabeça do objeto, que lhe conferia luz através das contas de vidro, os olhos do bicho.
— Está dormindo — disse Cal, depois acrescentou: — você tinha esse mesmo brinquedo... No seu berço.
Will o largou na mesa repentinamente, como se ele o tivesse mordido.
— Do que você está falando? — disse ele ao menino.
Houve um momento de incerteza por parte de todos e mais uma vez um silêncio enervante caiu na sala, quebrado somente pelo Segundo Oficial, que começou a murmurar baixinho consigo mesmo. Cal abriu a boca como se fosse falar, mas pareceu ter dificuldade para encontrar as palavras. Will ficou sentado olhando o bicho de brinquedo, até que Cal o tirou da mesa e o guardou. Depois, olhando para Will, ele franziu o cenho.
— Seu nome é Seth — disse ele, quase ressentido. — Você é meu irmão.
— Rá! -—Will deu uma risada seca na cara de Cal e depois, à medida que toda a amargura pelo tratamento que recebeu nas mãos dos Styx fervia dentro dele, sacudiu a cabeça e falou asperamente. — Ah, tá. Como quiser. — Will já estava cansado dessa charada. Sabia quem era sua família e não era a dupla de piadistas diante dele.
— É verdade. Sua mãe era a minha mãe. Ela tentou fugir com nós dois. Ela levou você para a Crosta, mas me deixou com a vovó e o papai.
Will revirou os olhos e girou para encarar o Segundo Oficial.
— Muito esperto. Bom truque, mas não vou cair nessa.
O policial franziu os lábios, mas não disse nada.
— Você foi recolhido por uma família de Pessoas da Crosta... — disse Cal, elevando a voz.
— Claro, e não estou disposto a ser recolhido por uma família de doidos delirantes aqui embaixo! — respondeu Will com raiva, começando realmente a perder as estribeiras.
— Não desperdice seu fôlego, Caleb — disse o sr. Jerome, colocando a mão no ombro do filho. Mas Cal a afastou e continuou, a voz começando a falhar de desespero.
— Eles não são a sua família verdadeira. Nós somos. Nós somos a sua carne e o seu sangue.
Will encarou o sr. Jerome, cujo rosto rubro só transparecia aversão. Depois, olhou novamente para Cal, que agora se recostara desesperado, de cabeça baixa. Mas Will não ficou impressionado. Era alguma piada doentia. Será que eles realmente pensam que sou idiota para ser enganado por isso?, disse ele a si mesmo.
Abotoando o paletó, o sr. Jerome se levantou rapidamente.
— Isto não vai dar em nada — disse ele.
E Cal, levantando-se com ele, falou baixinho.
— A vovó sempre disse que você ia voltar.
— Não tenho avô nem avó nenhuma. Estão todos mortos! — gritou Will, pulando da cadeira, os olhos agora ardendo de raiva e transbordando de lágrimas. Ele disparou para a janela de vidro na parede e apertou a cara na superfície.
— Muito espertos! — gritou ele para o vidro. — Quase me pegaram! — Ele protegeu os olhos da luz da sala numa tentativa de ver do outro lado do vidro, mas não havia nada, só uma escuridão inexorável. O Segundo Oficial pegou seu braço e o afastou. Will não ofereceu resistência, por ora, a briga tinha se apagado nele.
Capítulo Vinte e Dois
Rebecca estava deitada na cama, encarando o teto. Tinha acabado de tomar um banho quente e estava com a camisola verde-limão, o cabelo no alto em um turbante de toalha. Cantarolava suavemente junto com a emissora de música clássica no rádio de sua mesa-de-cabeceira enquanto meditava sobre os acontecimentos dos últimos três dias.
Tudo começou quando ela foi acordada tarde da noite por uma batida frenética e a campainha na porta da frente. Teve que se levantar para atender porque a sra. Burrows, sob o efeito dos fortes comprimidos que lhe foram receitados recentemente, estava morta para o mundo. Nem uma banda de música de bêbados teria conseguido acordá-la, mesmo que tentasse.
Ao abrir a porta, Rebecca quase foi derrubada pelo pai de Chester, que irrompeu hall adentro e de imediato começou a bombardeada de perguntas.
— O Chester ainda está aqui? Ele não voltou para casa. Tentamos telefonar, mas ninguém atendeu. — Seu rosto era lívido e ele vestia uma capa de chuva bege e amarrotada, com a gola virada para dentro, como se a tivesse colocado com muita pressa. — Achamos que ele deve ter decidido ficar. Ele está aqui, não está?
— Eu não... — ela começou a dizer, enquanto por acaso olhava a cozinha e percebia que o prato de comida que deixara do lado de fora para Will não fora tocado.
— Ele disse que estava ajudando Will em um projeto, mas... ele está aqui? Onde está o seu irmão... pode chamá-lo, por favor? — As palavras do sr. Rawls tropeçavam enquanto ele olhava ansioso pelo corredor e no segundo andar.
Deixando o homem se desgastando sozinho, Rebecca correu até o quarto de Will. Não se incomodou em bater; já sabia o que encontraria. Ela abriu a porta e acendeu a luz. Sem nenhuma dúvida Will não estava lá e sua cama não fora usada. Ela apagou a luz e fechou a porta ao sair, voltando ao térreo e ao sr. Rawls.
— Não, nenhum sinal dele — disse ela. — Acho que Chester esteve aqui, ontem à noite; mas não sei aonde eles possam ter ido. Talvez...
Ao ouvir isso, o sr. Rawls ficou quase incoerente, balbuciando alguma coisa sobre verificar os refúgios de sempre e envolver a polícia enquanto partia para a porta da frente, deixando-a aberta depois de sair.
Rebecca continuou no corredor, mordendo o lábio. Estava furiosa consigo mesma por não ter sido mais atenta. Com todo o comportamento secreto dele e o novo amigo escondido no porão, Will andou aprontando alguma coisa durante semanas — não havia dúvida nenhuma disso. Mas o quê?
Ela bateu na porta da sala de estar e, sem obter resposta, entrou. A sala estava escura e sufocante, e ela ouviu um ronco incessante.
— Mãe — disse ela com uma insistência delicada.
— Urff?
— Mãe — disse ela mais alto, sacudindo o ombro da sra. Burrows.
— Quê? Nnnããã... Unff?
— Vamos, mãe, acorde, é importante.
— Nããão, — disse uma voz sonolenta e relutante.
— Acorde. Will está desaparecido! — disse Rebecca com insistência.
— Me... deixa... em... paz... — grunhiu a sra. Burrows com um bocejo indolente, girando o braço para enxotar Rebecca.
— Sabe aonde ele foi? E Chester...
— Ah, vá embooooraaaaa! — gritou a mãe, virando de lado na poltrona e puxando a velha manta de viagem para a cabeça. O ronco superficial reapareceu quando ela retornou ao estado de hibernação. Rebecca suspirou de frustração, parada ao lado do corpo amorfo.
Ela foi à cozinha e se sentou. Com o número do detetive na mão e o telefone sem fio pousado na mesa diante dela, Rebecca pensou por um longo tempo no que ia fazer. Foi só ao amanhecer que realmente deu o telefonema e, como caiu na secretária eletrônica, deixou um recado. Ela voltou ao quarto e tentou ler um livro enquanto esperava por uma resposta.
A polícia apareceu precisamente às 7:06. Depois disso, os acontecimentos ganharam vida própria. A casa se encheu de policiais uniformizados dando buscas em cada canto, vasculhando cada armário e cômoda. Com luvas de látex, eles começaram pelo quarto de Will e seguiram para o resto da casa, terminando no porão, mas aparentemente não descobriram nada de grande interesse. Ela quase se divertiu ao ver que eles estavam pegando peças de roupa de Will no cesto de roupa suja do patamar da escada e selando cada item meticulosamente em seu saco de politeno para levar para fora. Ela se perguntou o que as camisetas sujas de Will poderiam dizer a eles.
No começo, Rebecca se ocupou arrumando a bagunça que os policiais deixavam, usando a atividade como desculpa para andar pela casa e ver se podia pegar qualquer coisa das várias conversas que estavam acontecendo. Depois, como ninguém parecia estar dando a mínima para ela, Rebecca abandonou a pretensão de arrumar e só andou por onde queria, passando a maior parte do tempo no corredor junto à sala de estar, onde o detetive e a policial interrogavam a sra. Burrows. Pelo que Rebecca conseguiu entender, ela parecia estar ao mesmo tempo desinteressada e perturbada, e não lançou nenhuma luz no paradeiro atual de Will.
Os policiais por fim retiraram-se para a frente da casa, onde ficaram agrupados, fumando e rindo. Logo depois, o detetive e a policial saíram da sala de estar e Rebecca os seguiu até a porta. Enquanto o detetive andava até a fila de viaturas estacionadas, ela não conseguiu deixar de ouvir as palavras dele.
— Essa aí está a poucos volts de uma carga total — disse ele à colega.
— É muito triste — disse a policial.
— Sabe de uma coisa... — disse o detetive, parando para olhar a casa —, perder um membro da família já é uma infelicidade... — A colega assentiu.
— ...mas perder dois, é problemático — continuou o detetive. — Muito problemático, na minha opinião.
A policial assentiu de novo com um sorriso triste.
— É melhor darmos uma olhada no terreno baldio, só por precaução. — Rebecca o escutou dizer antes de ele finalmente ficar fora do alcance de seus ouvidos.
No dia seguinte, a polícia mandou um carro buscar as duas e a sra. Burrows foi interrogada por várias horas, enquanto Rebecca foi solicitadas esperar em outra sala com uma moça da assistência social.
Agora, três dias depois, a cabeça de Rebecca repassava a cadeia de eventos. Fechando os olhos, ela se lembrou das caras inexpressivas na delegacia e as conversas que ouviu.
— Isso não vai dar certo — disse ela, olhando o relógio e vendo a hora. Ela se levantou da cama, tirou a toalha da cabeça e se vestiu rapidamente.
No térreo, a sra. Burrows estava abrigada na poltrona, enrascada e totalmente vestida sob a manta de viagem que a envolvia como um casulo de lã xadrez. A única luz na sala vinha de um programa emudecido da Open University, a luz azul e fria pulsando intermitente e fazendo com que as sombras pulassem e se movessem, conferindo uma espécie de animação à mobília e aos objetos. Ela dormia profundamente quando um barulho a acordou. Um murmúrio grave, como de um vento forte passando pelos galhos das árvores no jardim. Ela abriu um pouquinho os olhos. No canto mais distante da sala, pelas cortinas entreabertas das janelas, distinguiu uma forma grande e vaga. Por um momento, perguntou-se se estava sonhando, enquanto a sombra mudava e se mexia sob a luz da televisão. Ela se esforçou para ver o que era. Perguntou-se se podia ser um invasor. O que devia fazer? Fingir estar dormindo? Ou ficar deitada imóvel para que o invasor não a incomodasse?
Ela prendeu a respiração, tentando controlar o pânico crescente. Os segundos pareceram horas enquanto a forma continuava estacionaria. Ela começou a pensar que, afinal, talvez fosse só uma sombra inocente. Um truque da luz e uma imaginação hiperativa. Ela soltou o ar dos pulmões, abrindo totalmente os olhos.
De repente houve uma fungada e, para horror da sra. Burrows, a sombra se dividiu em dois borrões distintos e espectrais que se aproximavam dela numa velocidade ofuscante. Com os sentidos girando de choque e terror, uma voz calma e controlada em sua cabeça lhe disse com absoluta convicção, “ELES NÃO SÃO FANTASMAS”.
Num átimo, as figuras estavam em cima dela. Ela tentou gritar, mas não saiu nenhum som. Um tecido rude roçou seu rosto enquanto ela sentia um bolor peculiar, parecido com roupas mofadas. Depois, uma mão poderosa a golpeou e ela se enroscou de dor, sem fôlego, lutando para respirar, até que, como um recém-nascido, ela tossiu e soltou um grito terrível.
Foi incapaz de resistir ao ser retirada da poltrona e ser suspensa no hall. Agora, berrando como uma banshee, dando pinotes e lutando, ela viu outra figura assomando na porta do porão e uma mão úmida e enorme se fechou em sua boca, abafando seus gritos.
Quem eram eles? O que procuravam? Depois uma idéia terrível passou por sua mente. Sua TV e o vídeo preciosos! Era isso! Era o que eles queriam! Mas era muita injustiça. Era simplesmente demais para suportar, acima de todo o resto que teve que agüentar. O mundo ficou vermelho para a sra. Burrows.
Tirando energia do nada, ela reuniu a força sobre-humana do desespero. Conseguiu libertar uma das pernas e de imediato chutou. Isto provocou um frenesi de atividade enquanto seus atacantes tentavam agarrar as pernas, mas ela chutou repetidas vezes enquanto se retorcia. A cara de um dos atacantes apareceu em seu alcance; ela viu a oportunidade e se lançou para frente, mordendo com a maior força que pôde. Descobriu que tinha atingido o nariz e sacudiu a cabeça como um terrier abocanhando um rato.
Houve um gemido de gelar os ossos e o aperto nela relaxou por um momento. Foi o suficiente para a sra. Burrows. Enquanto a figura a soltava e caía por cima de outra, ela pôde colocar os pés no chão e agitou os braços para trás como um esquiador descendo a colina. Com um berro, fugiu deles e entrou na cozinha, deixando-os arfando só com a manta que a enrolava, como o rabo descartado de uma lagartixa em fuga.
Num piscar de olhos, a sra. Burrows estava de volta. Ela se atirou no meio das três formas grosseiras. E foi o pandemônio.
Rebecca, no alto da escada, estava perfeitamente posicionada para ver tudo o que se desenrolava. Na meia-luz do corredor abaixo, uma coisa metálica brilhou para frente e para trás, e de um lado a outro, e ela viu uma cara louca. A cara da sra. Burrows. Rebecca percebeu que ela manejava uma frigideira, girando-a para os lados como um cutelo. Era a frigideira nova, com base extralarga e a superfície especial antiaderente.
As formas vagas renovavam o ataque sem parar, mas a sra. Burrows ficou firme, repelindo-os com golpes múltiplos, a frigideira soando satisfatoriamente ao entrar em contato com um crânio aqui e um cotovelo ali. Em toda a confusão, Rebecca pôde ver as manchas de movimento enquanto a saraivada de golpes continuava a uma velocidade inacreditável, criando um coro de grunhidos e gemidos.
— MORTE! — gritava a sra. Burrows. — MORRAM, MORRAM!
Uma das figuras vagas estendeu a mão numa tentativa de pegar a frigideira da sra. Burrows, que girava num oito, e acabou espancada por um golpe de estremecer os ossos. Ele soltou um uivo grave, como de um cão ferido, e cambaleou para trás, os outros caindo com ele. Depois, a um só tempo, eles giraram nos calcanhares e os três escapuliram pela porta aberta da frente. Correram a uma velocidade assustadora, como baratas pegas na luz, e desapareceram. Na quietude que se seguiu, Rebecca desceu a escada de mansinho e acendeu a luz do corredor. A sra. Burrows, o cabelo sujo pendendo em mechas escuras como chifres moles pela cara branca, de imediato voltou seu olhar maníaco para Rebecca.
— Mãe — disse Rebecca delicadamente.
A sra. Burrows ergueu a panela no alto e partiu para ela. O olhar de animal furioso fez Rebecca dar um passo para trás, pensando que a mãe estava prestes a se virar contra ela.
— Mãe! Mãe, sou eu, está tudo bem, eles foram embora... Eles agora foram embora!
Uma estranha presunção atravessou o rosto da sra. Burrows enquanto ela se olhava e assentia lentamente, parecendo reconhecer a filha.
— Está tudo bem, mãe, de verdade. — Rebecca tentou tranqüilizá-la. Ela se aventurou para mais perto da mulher que arfava e gentilmente soltou a frigideira de sua mão. A sra. Burrows não opôs nenhuma resistência.
Rebecca suspirou de alívio e, olhando em volta, percebeu algumas manchas escuras no carpete do hall. Podia ser lama ou ela olhou mais de perto e franziu a testa — sangue.
— Se eles sangraram — entoou a sra. Burrows, seguindo o olhar de Rebecca —, talvez eu os tenha matado. — Ela recuou os lábios, revelando os dentes ao soltar um grunhido baixo, depois começou a rir horrivelmente, uma risada artificial e áspera.
— Que tal uma xícara de chá? — perguntou Rebecca, dando um sorriso forçado enquanto a sra. Burrows se aquietava novamente. Passando o braço em sua cintura, ela a conduziu para a sala de estar.
Capítulo Vinte e Três
Will foi grosseiramente acordado pela porta da cela batendo na parede e o Primeiro Oficial puxando-o para colocado de pé. Ainda tonto de sono, foi expulso do Cárcere, passando pela recepção da delegacia, saindo pela entrada principal e levado ao alto da escada de pedra.
O policial o soltou e ele cambaleou um pouco até se equilibrar. Ali, parou, grogue e bastante desorientado. Ouviu um baque ao lado quando a mochila foi atirada a seus pés e, sem dizer uma palavra, o policial deu as costas e entrou na delegacia.
Era uma sensação estranha, estar parado ali, banhado pela luz da rua, depois de ficar confinado naquela cela tenebrosa por tanto tempo. Havia uma leve brisa em seu rosto — era úmida e bolorenta, mas mesmo assim, era um alívio depois da falta de ar do Cárcere.
“E agora, o que vai ser?”, pensou ele consigo mesmo, cocando o pescoço por baixo da gola da camisa grossa que lhe foi dada por um dos policiais. Com a mente ainda tonta, começou a bocejar, mas enrijeceu ao ouvir um barulho: um cavalo inquieto relinchava e batia o casco no calçamento molhado. Will olhou de imediato e viu uma carruagem escura a pouca distância do outro lado da rua, à qual estavam atrelados dois cavalos branquíssimos. Na frente, sentava-se um cocheiro, segurando as rédeas. A porta da carruagem se abriu e Cal pulou para fora, atravessando a rua na direção dele.
— O que é isso? — perguntou Will desconfiado, recuando um passo com a aproximação de Cal.
— Vamos levar você para casa — respondeu Cal.
— Casa? Como assim, casa? Com você? Não vou a lugar nenhum sem o Chester! — disse ele, resoluto.
— Shhhh, não. Ouça! — Cal agora estava perto dele e falava com urgência. — Eles estão nos observando. — Ele inclinou a cabeça para a rua, os olhos jamais deixando os de Will.
Na esquina havia uma única figura, imóvel, escura como uma sombra sem corpo. Will só conseguia distinguir a gola branca.
— Não vou embora sem o Chester — sibilou Will.
— O que acha que vai acontecer com ele se você não vier conosco? Pense nisso.
— Mas...
— Eles podem facilitar para ele, ou não. Você decide. — Cal olhou suplicante nos olhos de Will.
Will olhou a delegacia uma última vez, depois suspirou e sacudiu a cabeça.
— Tudo bem.
Cal sorriu e, pegando a mochila de Will, seguiu na frente até a carruagem que esperava. Manteve a porta aberta para o irmão, que o seguiu de má vontade, as mãos nos bolsos e a cabeça baixa. Não estava gostando nada daquilo.
Enquanto a carruagem arrancava, Will examinou o interior austero. Certamente não fora construída para proporcionar conforto. Os assentos, como os painéis laterais, eram de uma madeira dura e laqueada de preto, e toda a coisa tinha cheiro de verniz com um toque fraco de alvejante, lembrando o ginásio da escola no primeiro dia de aula. Ainda assim, qualquer coisa era melhor do que a cela em que estivera trancafiado por tantos dias com Chester. Will sentiu um terror súbito ao pensar no amigo, ainda encarcerado e agora sozinho no Cárcere. Ele se perguntou se Chester saberia que ele fora libertado e jurou a si mesmo que encontraria um jeito de tirar o amigo de lá, mesmo que fosse a última coisa que fizesse na vida.
Ele afundou abatido no assento e pôs os pés no banco oposto, depois puxou a cortina coriácea e olhou pela janela aberta da carruagem. Enquanto o coche se sacudia pelas ruas desertas e cavernosas, casas desoladas e escuras fachadas de lojas passavam com uma regularidade monótona. Imitando Will, Cal também se acomodou e pousou os pés no banco na frente dele, de vez em quando olhando longamente para o irmão e sorrindo satisfeito consigo mesmo.
Os dois garotos ficaram em silêncio, perdidos nos próprios pensa-mentos, mas não demorou muito para que a curiosidade natural de Will despertasse um pouco. Ele fez um esforço para apreender a paisagem sombria pela qual passava mas, depois de pouco tempo, suas pálpebras ficaram cada vez mais pesadas à medida que o extremo cansaço e o subterrâneo aparentemente interminável levavam a melhor sobre ele. Por fim, aquietado pelo bater ritmado dos cascos do cavalo, tombou a cabeça, acordando de vez em quando, com um sobressalto, quando o balanço da carruagem o despertava. Com uma expressão um tanto assustada, ele olhava semiconsciente, para diversão de Cal, e depois a cabeça tombava novamente e ele voltava a sucumbir à fadiga.
Ele não sabia se tinha dormido por minutos ou mesmo horas quando o cocheiro estalou o chicote, acordando-o mais uma vez. A carruagem sacolejou para frente e os postes de rua brilhavam pela janela a intervalos menos regulares. Will imaginou que eles deviam estar chegando aos arredores da cidade. Áreas mais amplas se abriam entre as construções, atapetadas de um leito escuro, verde e quase preto de liquens ou coisa parecida.
Depois vieram faixas de terra dos dois lados da rua, divididas em lotes por cercas raquíticas, contendo uma camada do que parecia uma espécie de fungo grande.
A certa altura, a velocidade diminuiu quando eles atravessaram uma pequena ponte sobre um canal de aparência escura. Will olhou para baixo, para a água lenta e inerte, fluindo como petróleo bruto, e por algum motivo isso o encheu de um pavor inexplicável.
Ele havia acabado de se acomodar de novo no assento e estava recomeçando a cochilar quando a estrada de repente caiu numa ladeira íngreme e a carruagem guinou para a esquerda. Depois, como a rua se aplainou mais uma vez, o condutor gritou “Ôôaaaa!” e os cavalos reduziram a um trote.
Will agora estava bem acordado e colocou a cabeça para fora da janela a fim de ver o que estava acontecendo. Havia um enorme portão de metal bloqueando o caminho e, ao lado dele, um grupo de homens se espremia em volta de um braseiro para aquecer as mãos. Destacado deles, no meio da rua, uma figura encapuzada erguia uma lanterna no alto e acenava de um lado a outro, como um sinal para o cocheiro parar. À medida que a carruagem estacava, para pavor de Will, viu a figura instantaneamente reconhecível do Styx surgindo das sombras. Ele fechou a cortina num puxão e afundou na carruagem. Olhou para Cal de um jeito inquisitivo.
— É o Portão da Caveira. É o portal principal para a Colônia — explicou Cal num tom tranqüilizador.
— Pensei que já estivéssemos na Colônia.
— Não — respondeu Cal, incrédulo —, aquele era só o Quartel. É uma espécie de... é como um posto avançado... nossa cidade da fronteira.
— Então há mais além disso?
— Mais? Meu Deus, há quilômetros!
Will ficou sem fala. Olhou temeroso para a porta à aproximação do som entrecortado de saltos de botas nos paralelepípedos. Cal pegou seu braço.
— Não se preocupe, eles verificam todo mundo que passa por aqui. É só não dizer nada. Se houver problemas, eu falarei com eles.
Naquele exato momento, a porta do lado de Will foi aberta e o Styx enfiou uma lanterna de bronze em seu interior. Balançou o feixe em seus rostos, depois deu um passo para trás e o lançou ao cocheiro, que lhe passou uma folha de papel. Ele leu de um jeito apressado. Aparentemente satisfeito, voltou mais uma vez aos garotos, dirigiu a luz estonteante direto nos olhos de Will e, com uma expressão de desdém, bateu a porta. Passou a folha de papel ao condutor, fez um sinal para o porteiro, girou nos calcanhares e se afastou.
Ouvindo uma pancada alta, Will ergueu cauteloso a bainha da cortina e espiou novamente. À medida que o guarda lhes dava passagem, a luz de sua lanterna revelava que o portão na realidade era uma grade levadiça. Ele ficou olhando a grade se erguer aos solavancos em uma estrutura que o fez pestanejar de surpresa. Escavada em uma pedra mais leve e destacando-se da parede acima da grade, havia um crânio enorme e sem dentes.
— Isso é de dar arrepios — murmurou Will.
— É para dar. É um alerta — respondeu Cal com indiferença enquanto o cocheiro estalava o chicote e a carruagem se lançava na boca da aparição temível e entrava na caverna além dela.
Curvando-se para fora da janela, Will viu a grade levadiça baixar até que a curva do túnel a ocultou de vista. Os cavalos ganharam velocidade, a carruagem virou uma esquina e disparou por uma ladeira, entrando em um túnel gigantesco, cortado em arenito vermelho escuro. Era completamente desprovido de construções e casas. Enquanto o túnel continuava a descer, o ar começou a mudar — começou a ter um cheiro de fumaça — e, por um momento, o eterno zumbido aumentou de intensidade, até que agitou o tecido da própria carruagem.
Eles deram uma última guinada, o zumbido diminuiu e o ar ficou mais limpo de novo. Cal se juntou a Will na janela enquanto um espaço enorme abria-se diante deles. Dos dois lados da rua, havia filas de construções, uma floresta complexa de dutos de tijolos correndo pelas paredes no alto da caverna, como veias varicosas inchadas. Ao longe, amontoados escuros lançavam chamas azuladas e frias e vertiam uma fumaça vertical que, sem ser perturbada por correntes de ar, erguia-se até o teto da caverna. Ali a fumaça se acumulava, ondulando lentamente e se assemelhando a uma marola suave na superfície de um mar marrom invertido.
— Esta é a Colônia, Will — disse Cal, o rosto ao lado do de Will na janela estreita. — Aqui é nossa...
Will só encarava maravilhado e mal ousava respirar.
— ...casa.
Capítulo Vinte e Quatro
Mais ou menos na mesma hora em que Will e Cal chegavam à casa de Jerome, Rebecca estava parada pacientemente ao lado de uma mulher do Serviço Social no décimo terceiro andar do Mandela Heights, um prédio alto, melancólico e arruinado no lado mais desagradável de Wandsworth. A assistente social tocava a campainha do número 65 pela terceira vez sem obter resposta, enquanto Rebecca olhava dela para o chão sujo. Com um gemido baixo e cheio de remorso, o vento soprava pelas janelas quebradas da escada e agitava os sacos de lixo meio cheios, empilhados num canto.
A menina estremeceu. Não só por causa do vento frio, mas porque estava prestes a ser despachada ao que considerava um dos piores lugares do planeta.
Agora, a assistente social desistira de apertar a campainha encardida e começava a bater com força na porta. Ainda não houve resposta, mas o som da televisão podia ser ouvido com clareza de dentro do apartamento. Ela bateu novamente, desta vez com mais insistência, e parou ao finalmente ouvir uma tosse e uma voz estridente de mulher do outro lado da porta.
— Tudo bem, tudo bem, pelo amor de Deus, dá uma chance pra gente!
A assistente social virou-se para Rebecca e tentou sorrir de forma tranqüilizadora. Só o que conseguiu foi uma coisa parecida com um esgar compadecido.
— Parece que ela está aí.
— Ah, que ótimo — disse Rebecca com sarcasmo, pegando as duas malinhas.
Elas esperaram num silêncio sem jeito enquanto, com muito estardalhaço, a porta foi destrancada e a corrente retirada, acompanhada de murmúrios e palavrões e pontuada por uma tosse intermitente. A porta por fim se abriu e uma mulher de meia-idade muito desmazelada, com um cigarro pendurado do lábio inferior, olhou de cima a baixo e, com desconfiança, a assistente social.
— Do que se trata tudo isso? — perguntou ela, um olho semicerrado da fumaça do cigarro, que se remexia com o vigor da batuta de um maestro quando ela falava.
— Trouxe sua sobrinha, srta. Boswell — anunciou a assistente social, indicando Rebecca ao lado dela.
— Você o quê? — disse a mulher asperamente, derrubando a cinza no sapato imaculado da assistente social. Rebecca se encolheu.
— Não se lembra?... Conversamos ao telefone ontem.
Seu olhar lacrimoso caiu em Rebecca, que sorriu e inclinou-se um pouco para entrar no campo de visão limitado da tia.
— Oi, tia Jean — disse ela, fazendo o máximo para sorrir.
— Rebecca, querida, é claro, sim, olhe só você, como cresceu! Já é uma mocinha. — Tia Jean tossiu e abriu totalmente a porta. — Sim, entrem, entrem, tenho uma coisa no fogão. — Ela se virou e se arrastou pelo pequeno corredor, deixando Rebecca e a assistente social inspecionando as pilhas de jornais enrolados junto às paredes e o número enorme de cartas ainda fechadas e folhetos que tomavam o carpete sujo. Tudo era coberto de uma fina camada de poeira e os cantos do corredor eram adornados de teias de aranha. Todo o lugar fedia aos cigarros da tia Jean. A assistente social e Rebecca ficaram paradas em silêncio até que a mulher, como quem saía de um transe, despediu-se de Rebecca e lhe desejou boa sorte. Parecia ter uma pressa louca para ir embora e a menina a observou seguindo para a escada, parando no caminho para olhar a porta do elevador como se esperasse que, por milagre, ele voltasse a funcionar e ela não tivesse que enfrentar o longo trajeto de descida.
Rebecca entrou com cuidado no apartamento e seguiu a tia até a cozinha.
— Eu bem que podia ter uma ajuda aqui — disse tia Jean, pegando um maço de cigarros em meio ao lixo da mesa.
A menina examinou o cenário de mau gosto diante dela. Flechas de luz do sol atravessavam a perpétua névoa de fumaça de cigarro que pairava em volta da tia como uma nuvem pessoal de tempestade. Ela franziu o nariz ao sentir o cheiro acre da comida queimada da véspera preso no ar.
— Se vai ficar aqui no meu cafofo — disse a tia em meio a um acesso de tosse —, vai ter que fazer a sua parte.
Rebecca não se mexeu; temia que qualquer movimento, mesmo lento, a fizesse ser tragada pela porcaria que cobria cada superfície.
— Vamo lá, Beca, baixa as malas aí e arregaça as mangas. Pode começar colocando a chaleira no fogo. — Tia Jean sorriu ao se sentar à mesa da cozinha. Acendeu um novo cigarro com o velho antes de apagar este último diretamente no tampo de fórmica, errando completamente o cinzeiro abarrotado.
O interior da casa de Jerome era acolhedor e confortável, com tapetes de padronagem sutil, superfícies de madeira polidas e paredes de um verde e um vinho profundos. Cal pegou a mochila de Will e a colocou em uma mesinha, em que um lampião a óleo com um quebra-luz de vidro estava em um paninho de mesa de linho creme.
— Aqui — disse Cal, indicando que Will devia segui-lo pela primeira porta, que saía do hall. — Esta é a sala de visitas — anunciou ele com orgulho.
A atmosfera na sala era quente e mormacenta, com pequenas rajadas de ar fresco vindo de uma grade incrustada de poeira, acima do ponto onde agora estavam parados. O teto era baixo, com frisos ornamentados, que ganharam um tom acinzentado da fumaça e da fuligem do fogo que mesmo agora rugia na lareira ampla. Na frente da lareira, esparramado num tapete persa surrado, havia um animal grande que parecia sarnento, dormindo de costas com as pernas no ar, exibindo sem o menor pudor um par de testículos pendentes.
— Um cachorro! — Will ficou meio surpreso ao ver um animal doméstico lá embaixo. O animal era da cor de ardósia polida; era quase completamente pelado, com um trecho estranho de restolho escuro ou tufo de pêlos surgindo aqui e ali na pele mole, que cedia como um terno folgado.
— Cachorro? Esse é Bartleby e ele é um gato, uma variante de Rex. Um excelente caçador.
Atordoado, Will olhou novamente. Um gato? Era do tamanho de um Dobermann bem alimentado e raspado. Não havia nada de remotamente felino no animal, cuja caixa torácica imensa subia e descia devagar com a respiração regular. Enquanto Will se curvava para examiná-lo mais de perto, ele bufou alto em seu sono e as patas enormes se mexeram.
— Cuidado, ele vai arrancar seu rosto.
Will girou e viu uma velha em uma das grandes poltronas de estofado de couro posicionadas de cada lado da lareira. Estava sentada ali quando ele entrou e ele não a havia visto.
— Eu não ia tocar nele — respondeu ele na defensiva, endireitando-se.
Os olhos cinza-claros da velha cintilaram e não deixaram o rosto de Will.
— Ele não precisa ser tocado — disse ela, e acrescentou: — É muito instintivo, esse nosso Bartleby. — Seu rosto reluziu de afeto ao olhar o animal luxuriante e gigantesco.
— Vovó, este é o Will — disse Cal.
Mais uma vez o olhar astuto da velha caiu em Will e ela assentiu.
— Disso estou bem ciente. Ele é um Macaulay da cabeça aos pés e tem os olhos da mãe, não há dúvida. Olá, Will.
Will ficou emudecido, petrificado por suas maneiras gentis e a luz vibrante que dançava nos olhos idosos. Era como se uma parte dele, uma vaga lembrança, tivesse sido ativada, assim como uma brasa dormida é reavivada por uma brisa fraca. Ele se sentiu imediatamente à vontade na presença dela. Mas por quê? Ele era naturalmente cauteloso quando conhecia adultos e aqui, no mais estranho dos lugares, não conseguia deixar de baixar a guarda. Decidiu se entender bem com estas pessoas, fazer o jogo delas, mas não estava disposto a confiar em ninguém. Contudo, com esta senhora, era diferente. Era como se ele a conhecesse...
— Venha se sentar, converse comigo. Tenho certeza de que há muitas histórias fascinantes que pode me contar sobre sua vida lá em cima. — Ela ergueu o rosto por um momento para o teto. Caleb, coloque a chaleira no fogo e traga algumas gostosuras. Will vai me contar tudo sobre ele — disse ela, acenando para a outra poltrona de couro com a mão delicada, porém forte. Era a mão de uma mulher que trabalhou arduamente a vida toda.
Will se empoleirou na beira da cadeira, o fogo intenso da lareira aquecendo-o e relaxando-o. Embora não pudesse explicar o fato, ele sentia como se enfim tivesse chegado a um lugar seguro, a um santuário.
A velha o olhava atentamente e ele, sem se deixar constranger, olhava-a diretamente, o calor de sua atenção tão plenamente reconfortante quanto o fogo da lareira. Todo o pavor e as tribulações da última semana foram esquecidos naquele momento, e ele suspirou e se recostou, avaliando a senhora com uma curiosidade crescente.
O cabelo dela era fino e branco como a neve e ela o usava num coque elaborado no alto da cabeça, mantido no lugar por um prendedor de tartaruga. Estava com um vestido azul simples de mangas compridas, com uma gola de babados branca e alta.
— Por que eu sinto que conheço a senhora? — perguntou ele de repente. Will tinha a estanha sensação de que podia dizer a esta completa estranha o que lhe passasse pela cabeça.
— Porque conhece. — Ela sorriu. — Eu o segurei quando era um bebê, cantei cantigas de ninar para você.
Ele abriu a boca, prestes a protestar, porque o que ela disse não podia ser verdade, mas se deteve. Franziu o cenho. Mais uma vez, do seu íntimo, veio um lampejo de reconhecimento. Era como se cada fibra de seu corpo lhe dissesse que ela falava a verdade. Havia algo de muito familiar naquela senhora. Sua garganta se estreitou e ele engoliu em seco várias vezes, tentando controlar as emoções. A velha viu a emoção encher os olhos de Will.
— Ela teria ficado orgulhosa de você — disse a vovó Macaulay. — Você é o primogênito. — Ela inclinou a cabeça para o consolo da lareira. — Pode me passar aquela fotografia... ali, no meio?
Will se levantou para examinar as muitas fotos em porta-retratos de diferentes formatos e tamanhos. Não reconheceu de imediato nenhum dos fotografados; alguns sorriam grotescamente e outros tinham faces muito solenes. Todos tinham a mesma propriedade etérea dos daguerreótipos, as antigas fotografias que mostravam imagens fantasmagóricas de pessoas do passado distante, que ele vira no museu do pai, em Highfield. Como a senhora havia solicitado, ele pegou a maior das fotos, que ocupava com orgulho o centro do consolo da lareira. Vendo que era do sr. Jerome e de uma versão mais nova de Cal, ele hesitou.
— Sim, esta mesma — confirmou a velha senhora.
Will lhe entregou a foto, observando enquanto ela a virava no colo, abria as lingüetas e levantava o fundo do porta-retrato. Havia outra foto escondida ali, que ela suspendeu com a unha do indicador e passou a ele sem comentar nada.
Virando-a para a luz, ele examinou a imagem de perto. Mostrava uma jovem de blusa branca e uma saia preta e longa. Nos braços, a mulher segurava um pequeno fardo. O cabelo era do mais alvo dos brancos, idêntico ao de Will, e seu rosto era lindo, uma face forte com olhos gentis e estrutura óssea delicada, a boca cheia e o queixo quadrado... O queixo dele, que agora ele tocou involuntariamente.
— Sim — disse a velha delicadamente —, esta é Sarah, sua mãe. Você é muito parecido com ela. Esta foi tirada poucas semanas depois de seu nascimento.
— Hein? — Will arfou, quase deixando cair a foto.
— Seu nome verdadeiro é Seth... Assim você foi batizado. É você que ela está segurando.
Ele sentiu o coração parar. Olhou o fardo. Pôde ver que era um bebê, mas não distinguiu seu rosto com clareza por causa do pano. Sua mente disparou e as mãos tremeram, enquanto seus sentimentos e pensamentos se derramaram. Mas, de tudo isso, surgiu algo definido e conectado, como se ele estivesse lutando com um problema até agora insolúvel e de repente descobrisse a resposta. Como se enterrada no fundo do subconsciente se escondesse uma dúvida ínfima, uma suspeita rejeitada por ele de que sua família, o dr. e a sra. Burrows e Rebecca, que ele conhecia a vida toda, fosse meio diferente dele.
Teve problemas para focalizar a foto e se obrigou a olhá-la novamente, demorando-se nela para obter detalhes.
— Sim — disse a vovó Macaulay numa voz gentil, e ele se viu assentindo. Embora pudesse parecer irracional, ele sabia, sabia com absoluta certeza que o que ela dizia era verdade. Que esta mulher na foto, com o rosto monocromático e meio borrado, era sua mãe verdadeira, e que todas estas pessoas que ele conhecera recentemente eram sua verdadeira família. Will não conseguia explicar, simplesmente sabia.
Suas suspeitas de que eles estavam tentando enganá-lo e de que este era algum truque meticuloso evaporaram e uma lágrima correu por seu rosto, traçando uma linha clara e delicada na face suja. Ele a esfregou apressadamente com a mão. Ao passar a foto de volta à vovó Macaulay, ele sentiu o rubor no próprio rosto.
— Conte-me como é lá em cima... Na Crosta — disse ela, para livrá-lo do constrangimento. Ele ficou grato, ainda parado, sem graça, na poltrona enquanto ela recolocava a fotografia no porta-retrato, depois o estendia para que Will o colocasse em seu lugar no consolo.
— Bom... — titubeou ele.
— Sabe, filho, nunca vi a luz do dia, nem senti o sol em meu rosto. Como é isso? Dizem que queima.
Will, agora recostado na poltrona, olhou para ela. Estava tonto.
— Nunca viu o sol?
— Muito poucos aqui viram — disse Cal, voltando à sala e se agachando no tapete da lareira aos pés da avó. Começou a afagar delicadamente a dobra de pele frouxa e sarnenta do queixo do gato; quase de imediato um ronronar alto e palpitante encheu a sala.
— Conte-nos, Will, conte-nos como é — disse a vovó Macaulay, a mão pousada na cabeça de Cal enquanto ele se encostava no braço da poltrona.
Então, Will começou a lhes contar, primeiro hesitante, mas depois, como se uma torrente fosse desencadeada, ele descobriu que estava quase tagarelando ao falar da vida lá em cima. Surpreendeu-o a facilidade de tudo aquilo e como lhe parecia natural falar com aquelas pessoas que só conhecia há pouco tempo. Ele lhes contou sobre sua família e a escola, deleitando-os com histórias de escavações com o pai — ou melhor, a pessoa que ele acreditava ser seu pai até aquele momento — e sobre a mãe e a irmã.
— Você ama muito sua família da Crosta, não é? — disse a vovó Macaulay, e Will só conseguiu assentir em resposta. Ele sabia que nada disso, nenhuma das revelações que pudesse ter de uma família verdadeira aqui na Colônia, mudaria os sentimentos que tinha pelo pai. E por maior que fosse a dificuldade que Rebecca criava para sua vida, Will tinha que admitir para si mesmo que sentia muita falta dela. Ele sentiu um surto tremendo de culpa, sabendo que agora ela estaria torturada de preocupação pelo que teria acontecido com ele. Seu mundo pequeno e ordenado estaria desmoronando em volta dela. Ele engoliu em seco. Desculpe, Rebecca, eu devia ter contado a você, devia ter deixado um bilhete! Ele se perguntou se ela ligou para a polícia ao descobrir que ele desaparecera, a mesma medida ineficaz que eles tomaram quando o pai foi embora. Mas tudo isso foi deixado de lado em um instante, quando lampejou diante dele a imagem de Chester sozinho e ainda encarcerado naquela cela medonha.
— O que vai acontecer com o meu amigo? — disse ele, de repente.
A vovó Macaulay não disse nada, olhando distraída o fogo, mas Cal apressou-se em responder.
— Não vão deixá-lo voltar... nem você.
— Mas por quê? — perguntou Will. — Vamos prometer não contar nada a ninguém... sobre isto aqui.
Houve alguns segundos de silêncio e depois a vovó Macaulay tossiu delicadamente.
— Seria rejeitado pelos Styx — disse ela. — Eles não poderiam permitir que ninguém contasse sobre nós ao povo da Crosta. Isto poderia provocar a Revelação.
— A Revelação?
— É o que aprendemos no Livro das Catástrofes. É o fim de todas as coisas, quando as pessoas são postas às claras e perecem nas mãos dos que estão no alto — disse Cal, monótono, como se recitasse um versículo.
— Deus nos livre — murmurou a velha, desviando os olhos e fitando as chamas novamente.
— Então, o que vão fazer com o Chester? — perguntou Will, temendo a resposta.
— Ou será colocado para trabalhar, ou poderá ser condenado ao Desterro... mandado de trem para as Profundezas, para que se defenda sozinho por lá — respondeu Cal.
Will estava prestes a perguntar o que eram as Profundezas quando, no hall, a porta da frente se abriu com um baque. O fogo se agitou e lançou uma chuva de faíscas para o alto, que cintilaram brevemente ao serem atraídas para a chaminé. A vovó Macaulay olhou pelo lado da poltrona, sorrindo, enquanto Cal e Bartleby se colocavam de pé. Uma voz masculina poderosa berrou: “OLÁ, AÍ DENTRO!”
Ainda tonto de sono, o gato esbarrou de lado na parte de baixo de uma mesinha, que caiu no chão no mesmo instante em que se abria a porta da sala de visitas. Um homem enorme entrou na sala como um trovão tempestuoso, o rosto pálido, mas de bochechas avermelhadas, luzindo com uma empolgação indisfarçada.
— ONDE ELE ESTÁ? ONDE ELE ESTÁ? — gritou, e seu olhar feroz caiu em Will, que se levantou apreensivo da poltrona, sem saber o que fazer com esta explosão humana. Em duas pernadas, o homem atravessou a sala e apertou Will num abraço de urso, erguendo-o no ar como se ele não pesasse mais do que um saco de plumas. Soltando uma risada num rugido ensurdecedor, ele manteve Will nos braços, com seus pés pendurados inutilmente no meio do nada.
— Deixe-me ver você. Sim... sim, é o menino de sua mãe, não há dúvida; está nos olhos, não é, mãe? Ele tem os olhos e o queixo dela... o formato do lindo rosto, por Deus, rá, rá, rá! — berrou ele.
— Baixe-o, Tam — disse a vovó Macaulay.
O homem baixou Will ao chão, ainda olhando intensamente nos olhos assustados do garoto, sorrindo e sacudindo a cabeça.
— Este é um grande dia, é deveras um grande dia. — Ele estendeu a mão imensa para Will. — Sou seu tio Tam.
Will automaticamente estendeu a mão e Tam a pegou na palma gigantesca, sacudiu-a em um aperto de ferro, e puxou o sobrinho para ele, afagando seu cabelo com a outra mão e cheirando ruidosa e exageradamente o alto da cabeça.
— É inundado do sangue dos Macaulay, este aqui — trovejou ele. — Não diria isso, mãe?
— Sem dúvida — disse ela delicadamente. — Mas não o assuste com suas brincadeiras rudes, Tam.
Bartleby esfregava a cabeça imensa nas pernas de calças pretas e gordurosas do tio Tam, insinuando o corpo longo entre ele e o de Will, enquanto ronronava e emitia um gemido baixo, de outro mundo. Tam olhou para a criatura brevemente e depois para Cal, que ainda estava ao lado da poltrona da avó, desfrutando do espetáculo.
— Cal, o aprendiz de mágico, como está você, garoto? O que acha de tudo isso, hein? — Ele olhou de um menino para outro. — Por Deus, é bom ver vocês dois sob o mesmo teto novamente. — Ele sacudiu a cabeça, descrente. — Irmãos, ah, irmãos, meus sobrinhos. Isto pede uma bebida. Uma bebida de verdade.
— Estávamos mesmo preparando um chá — interveio a vovó Macaulay rapidamente. — Gostaria de uma xícara, Tam?
Ele girou para a mãe e deu um sorriso largo com uma faísca arrebatadora nos olhos.
— E por que não? Vamos tomar uma xícara de chá e colocar tudo em dia.
Nisso, a velha desapareceu no corredor e o tio Tam se sentou na poltrona vaga, que gemeu sob seu peso. Esticando as pernas, pegou um cachimbo curto de dentro do sobretudo enorme e o encheu de tabaco. Depois, usou uma brasa da lareira para acender o cachimbo, recostou-se e soprou uma nuvem de fumaça azulada no teto ornamentado, ao mesmo tempo em que olhava os dois garotos.
Por algum tempo, só o que se pôde ouvir foi o estalo do carvão em brasa, o ronronar invasivo de Bartleby e os sons distantes da velha ocupada na cozinha. Ninguém sentia a necessidade de falar, com a luz bruxuleante brincando em seus rostos, lançando sombras trêmulas nas paredes. Por fim, tio Tam falou.
— Sabe que seu pai da Crosta passou por aqui?
— O senhor viu? — Will se inclinou para o tio.
— Não, mas falei com gente que o viu.
— Onde ele está? O policial disse que estava em segurança.
— Segurança? — Tam se sentou mais para a frente, tirando o cachimbo da boca, o rosto tornando-se mortalmente sério. — Ouça, não acredite numa palavra do que aquela escória sem caráter lhe diz; são todos umas cascavéis que não valem nada. Eles são os capachos dos Styx.
— Já basta, Tam — disse a vovó Macaulay ao entrar na sala sacudindo nas mãos instáveis uma badeja de chá e um prato cheio de “gostosuras”, como ela chamou, uns montes disformes encimados por um glacê branco. Cal se levantou e a ajudou, entregando xícaras a Will e ao tio Tam. Depois, Will cedeu a poltrona à vovó Macaulay e se sentou ao lado de Cal no tapete da lareira.
— E então, e o meu pai? — perguntou Will, meio áspero, incapaz de se conter por mais tempo.
Tam assentiu e reacendeu o cachimbo, soltando nuvens volumosas de fumaça, que envolveram sua cabeça numa névoa.
— Só o perdemos por mais ou menos uma semana. Ele foi para as Profundezas.
— O Desterro? — Will se sentou reto, a cara cheia de preocupação ao se lembrar do termo usado por Cal.
— Não, não! — exclamou Tam, gesticulando com o cachimbo. — Ele quis ir! Coisa curiosa, segundo dizem, ele foi de boa vontade... sem proclamações... nem manifestações públicas... nada da ostentação costumeira dos Styx. — Ele puxou um pouco da fumaça e a soprou lentamente, de testa franzida. — Imagino que não deve ter sido um grande espetáculo para as pessoas, sem o palavrório e os gemidos dos condenados. — Fitou a lareira, a testa ainda franzida como se estivesse profundamente confuso com toda a história. — Nas semanas antes de partir, ele ficou vagando por aqui, escrevendo em seu livro... incomodando o povo com suas perguntas tolas. Imagino que os Styx tenham pensado que ele era meio... — Tam bateu na lateral da cabeça.
A vovó Macaulay deu um pigarro e olhou para ele severamente.
— ...inofensivo — disse ele, corrigindo-se. — Calculo que seja por isso que o deixaram andar por aí daquele jeito, mas pode apostar que vigiaram cada movimento dele.
Will se remexeu pouco à vontade onde estava sentado, no tapete persa; parecia errado exigir respostas deste homem afável e simpático, este homem que passava por seu tio, mas ele não conseguia se reprimir.
— O que exatamente são as Profundezas? — perguntou ele.
— Os círculos internos, o Interior. — Tam apontou a haste do cachimbo para o chão. — Abaixo de nós. As Profundezas.
— É um lugar ruim, não é? — intrometeu-se Cal.
— Nunca estive lá. Não é um lugar que você queria conhecer — disse o tio com um olhar ponderado para Will.
— Mas o que tem lá? — perguntou Will, morrendo de vontade de saber sobre o paradeiro do pai.
— Bem, uns oito quilômetros para baixo, há outro... imagino que você chamaria de povoamento. É lá que pára o Trem dos Mineradores, onde vivem os Coprólitos. — Ele sugou o cachimbo com ruído. — O ar é azedo lá embaixo. É o fim da linha, mas os túneis continuam, por quilômetros e quilômetros, segundo dizem. As lendas até falam de um mundo interior bem lá embaixo, no centro, cidades mais antigas, maiores do que a Colônia. — Tam riu com desdém. — Para mim, não passa de um monte de bobagens.
— Mas alguém já desceu por estes túneis? — perguntou Will, esperando, no fundo, que alguém tivesse descido.
— Bem, existem umas histórias. No ano 220, mais ou menos, dizem que um colono voltou depois de anos de Desterro. Qual era mesmo o nome dele... Abraham qualquer coisa?
— Abraham de Jaybo — disse a vovó Macaulay, baixinho.
Tam olhou a porta e baixou a voz.
— Quando o encontraram na Estação dos Mineradores, ele estava péssimo, coberto de cortes e hematomas, sem língua... Cortada, segundo dizem. Estava quase morto de fome, feito um cadáver ambulante. Não durou muito tempo; morreu uma semana depois de uma doença desconhecida que fez seu sangue ferver pelas orelhas e pela boca. É claro que ele não conseguia falar, mas alguns dizem que fez desenhos, um monte deles, enquanto estava no leito de morte, com medo de dormir.
— Que tipos de desenhos? — Will estava de olhos arregalados.
— De todo tipo, aparentemente, máquinas do inferno, animais estranhos e paisagens impossíveis, e coisas que ninguém consegue entender. Os Styx disseram que era tudo fruto de uma mente doente, mas outros dizem que as coisas que ele desenhou realmente existem. Até hoje, os desenhos são guardados a sete chaves nos cofres do Governo... mas ninguém que eu conheça chegou a vê-los.
— Meu Deus, eu daria qualquer coisa por um deles — disse Will, enfeitiçado pelo que acabara de ouvir.
Tio Tam soltou uma risada grave.
— Que foi? — perguntou Will.
— Bom, ao que parece, esse camarada Burrows disse a mesma coisa quando soube da história... e usou as mesmíssimas palavras.
Capítulo Vinte e Cinco
Depois de toda a conversa, do chá, do bolo e das revelações, tio Tam enfim se levantou com um bocejo cavernoso e esticou o corpo possante com vários estalos de arrepiar. Ele se virou para vovó Macaulay.
— Bem, vamos andando, mãe, já passa da hora de levá-la para casa.
E assim, fizeram suas despedidas e foram embora. Sem a voz de trovão e as gargalhadas contagiantes de Tam para encher o ambiente, a casa de repente parecia um lugar muito diferente.
— Vou lhe mostrar onde você vai dormir — disse Cal a Will, que se limitou a murmurar em resposta. Era como se estivesse sob uma espécie de feitiço, a mente inundada de novos pensamentos e sensações que, por mais que ele tentasse, não conseguia evitar que viessem à tona como um cardume de peixes famintos.
Eles entraram no corredor e, ali, Will se recuperou um pouco. Começou a examinar a sucessão de retratos pendurados na parede, andando lentamente.
— Pensei que sua avó morasse nesta casa — disse ele a Cal numa voz distante.
— Ela tem permissão para me visitar aqui. — De imediato, Cal desviou o rosto de Will, que não demorou a perceber que havia mais na história do que Cal revelava.
— Como assim, tem permissão?
— Ah, ela tem a casa dela, onde mamãe e o tio Tam nasceram — disse Cal evasivamente, com um sacudir de cabeça. — Venha, vamos! — Ele estava no meio da escada com a mochila enganchada no braço quando, para sua exasperação, descobriu que Will não o seguia. Olhando por sobre o corrimão, Cal viu que Will ainda se demorava nos retratos, a curiosidade espicaçada por algo no final do corredor.
A fome de descoberta e aventura de Will voltou a dominá-lo, afastando a fadiga e sua preocupação com tudo o que soubera recentemente.
— O que tem do outro lado? — perguntou ele, apontando para uma porta escura com maçaneta de bronze.
— Ah, não é nada. Só a cozinha — respondeu Cal com impaciência.
— Posso dar uma olhada rápida? — disse Will, já indo para a porta.
Cal suspirou.
— Ah, tudo bem, mas não há nada para ver — disse ele num tom resignado, e desceu a escada, alojando a mochila embaixo. É só uma cozinha!
Empurrando a porta, Will se viu em um cômodo de teto baixo que parecia saído de um hospital vitoriano. E não só parecia como tinha o mesmo cheiro, uma subcorrente forte de ácido carbólico misturada com o cheiro indistinto de comida. As paredes eram de uma cor de cogumelo opaca, e o piso e as superfícies de madeira eram cobertos de ladrilhos brancos e grandes, com uma miríade de arranhões e fissuras. Em certos lugares, tinham sido gastos em buracos raiados pelos anos de limpeza.
Sua atenção foi atraída ao canto, onde uma tampa batia delicadamente em uma de várias panelas aquecidas em uma espécie de fogão antiquado, a pesada estrutura, inchada e vítrea, de gordura queimada. Ele se inclinou para mais perto da panela, mas seu conteúdo fervente estava obscurecido por fiapos de vapor que liberavam um aroma vagamente saboroso. À direita de Will, depois de um cepo de açougueiro de aparência sólida com um cutelo de lâmina larga pendendo de um gancho no alto, Will viu outra porta que saía da cozinha.
— Onde esta vai dar?
— Olha, não seria melhor você...? — A voz de Cal falhou quando ele percebeu que era inútil discutir com o irmão, que já estava fuçando o cômodo adjacente.
Os olhos de Will se iluminaram quando viram o que havia ali; parecia o depósito de um alquimista, com prateleira após prateleira de vidros atarracados contendo conservas irreconhecíveis, todos horrivelmente distorcidos pela curvatura do vidro grosso e descoloridos pelo fluido oleoso em que estavam imersos. Pareciam espécimes anatômicos preservados em formaldeído.
Na prateleira de baixo, em bandejas de metal opacas, Will percebeu um monte de objetos do tamanho de bolas de futebol pequenas, dos quais brotava uma poeira cinza-amarronzada.
— O que é isso?
— É porcini... Nós cultivamos em toda parte, mas principalmente aqui nas câmaras inferiores.
— E vocês usam para quê? — Will estava agachado, examinando as superfícies aveludadas e mosqueadas.
— São cogumelos, para comer. Você deve ter comido algum no Cárcere.
— Ah, sim — disse Will, fazendo uma careta ao se levantar. E isso? — acrescentou ele, apontando para algumas tiras do que parecia ser carne seca penduradas em uma grade no alto.
Cal deu um sorriso largo.
— Você deve mesmo saber o que são.
Will hesitou por um momento e depois se inclinou para mais perto de uma das tiras; definitivamente era uma espécie de carne. Pareciam nervos alongados e eram da cor de casca de ferida nova. Ele cheirou, inseguro, depois sacudiu a cabeça.
— Não faço idéia.
— Ora... O cheiro?
Will fechou os olhos e cheirou de novo.
— Não, não tem cheiro de nada que eu... — Seus olhos se arregalaram e ele olhou para Cal. — É rato, não é? — disse ele, satisfeito por ter conseguido identificá-la e, ao mesmo tempo, apavorado com a descoberta. — Vocês comem rato?
— É uma delícia... não há nada de errado nisso. Agora, me diga de que espécie é — disse Cal, divertindo-se com o nojo patente de Will. — Do deserto, de esgoto ou cego?
— Eu não gosto de ratos, e muito menos os como. Não faço a mais re-mota idéia.
Cal sacudiu a cabeça devagar, com uma expressão de decepção fingida.
— É fácil, este é cego — disse ele, erguendo a ponta de uma das tiras com o dedo e cheirando ele mesmo. — É mais selvagem dos que os outros... é meio especial. Nós costumamos comer aos domingos.
Eles foram interrompidos por um barulho alto de metralhadora atrás e os dois giraram ao mesmo tempo. Ali, ronronando com todo seu poder, estava sentado Bartleby, os enormes olhos âmbar fixos nas tiras de carne e esperançosas gotas de saliva pingando do queixo careca.
— Fora! — gritou-lhe Cal, apontando a porta da cozinha. O gato não se mexeu nem um centímetro, mas ficou sentado resolutamente no piso ladrilhado, completamente hipnotizado pela visão da carne.
“Bart, eu disse fora!”, gritou Cal novamente, começando a fechar a porta enquanto ele e Will voltavam à cozinha. O gato grunhiu de forma ameaçadora e arreganhou os dentes, uma paliçada perolada de presas malévolas e afiadas, enquanto sua pele era tomada por uma onda de arrepio.
“Seu vira-lata insolente!”, disse Cal. “Sabe que não deve fazer isso!”
Cal mirou um chute brincalhão no animal desobediente, que andou de lado, evitando facilmente o golpe. Virando-se devagar, Bartleby olhou os dois com desprezo por sobre o ombro, depois se afastou letargicamente batendo as patas, abanando o rabo pelado e delgado num gesto de desafio.
— Ele venderia a alma por um rato, este aí — disse Cal, sacudindo a cabeça e sorrindo.
Depois de um breve giro pela cozinha, Cal conduziu Will pela escada de madeira rangente até o segundo andar.
— Este é o quarto do pai — disse ele, abrindo uma porta escura no meio do patamar da escada. — Não podemos entrar aqui. Se ele nos pegar, vai ser um horror.
Will rapidamente olhou a escada para se tranqüilizar de que a retaguarda estava livre antes de seguir. Uma cama enorme de baldaquino dominava o quarto do sr. Jerome, tão alta que quase tocava o teto dilapidado, que cedia agourentamente para baixo. O espaço em volta era desnudo e desinteressante, e uma única luz ardia em um canto.
— O que havia aqui? — perguntou Will, percebendo uma fila de trechos mais claros na parede cinza.
Cal olhou os quadrados espectrais e franziu o cenho.
— Fotografias... antigamente havia muitas, antes de papai as tirar daí.
— Por que ele fez isso?
— Por causa da mamãe... ela mobiliou o cômodo, era na verdade o quarto dela — respondeu Cal. — Depois que ela foi embora, o pai... — ele fez silêncio e, como não parecia inclinado a se estender no assunto, Will sentiu que não devia sondar mais, pelo menos por enquanto. Certamente não tinha se esquecido de como a foto de sua mãe, que a vovó Macaulay lhe mostrara, fora inexplicavelmente escondida. Nenhuma dessas pessoas, o tio Tam, a vovó Macaulay ou Cal, estava contando a história toda. Quer eles fossem ou não sua verdadeira família (e Will não conseguia aceitar a idéia fantástica de que eram) havia evidentemente mais ali do que o que lhe disseram. E ele estava decidido a descobrir o que era.
De volta ao patamar da escada, Will parou para admirar um globo luminoso impressionante sustentado por uma mão de bronze fantasmagórica que se projetava da parede.
— Essas luzes, de onde elas vêm? — perguntou ele, tocando a superfície fria da esfera.
— Não sei. Acho que são feitas na Caverna do Oeste.
— Mas como funcionam? Meu pai pediu a uns especialistas para examinar uma delas, mas não descobriram nada.
Cal olhou a luz com um ar evasivo.
— Eu realmente não sei. Sei que foram os cientistas de Sir Gabriel Martineau que descobriram a fórmula...
— Martineau? — interrompeu Will, lembrando-se do nome numa entrada do diário do pai.
Cal continuou, apesar da interrupção.
— Não, eu realmente não posso lhe dizer o que as faz funcionar... mas acho que eles usam vidro da Antuérpia. Tem alguma coisa a ver com o modo como os elementos se misturam sob pressão.
— Deve haver milhares delas aqui embaixo.
— Sem elas, não poderíamos sobreviver — respondeu Cal. Sua luz é como o sol para nós.
— Como vocês as desligam?
— Desligá-las? — Cal olhou para Will inquisitivamente, a iluminação banhando seu rosto pálido. — Por que diabos alguém ia querer isso?
Ele partiu pelo patamar da escada, mas Will ficou firme.
— Então vai me falar desse Martineau? — perguntou ele.
— Sir Gabriel Martineau — disse Cal com cuidado, como se Will estivesse demonstrando uma distinta falta de respeito. — Ele é o Pai Fundador... nosso salvador... ele construiu a Colônia.
— Mas li que ele morreu em um incêndio... é... bom, vários séculos atrás.
— Isso é o que eles querem que vocês, da Crosta, acreditem. Houve um incêndio, mas ele não morreu ali — respondeu Cal, retorcendo os lábios de desdém.
— Então, o que aconteceu? — rebateu Will.
— Ele desceu para cá com os Pais Fundadores para viver aqui, é claro.
— Os Pais Fundadores?
— Meu Deus! — disse Cal, exasperado. — Não vou passar por tudo isso agora. Pode ler sobre isso no Livro das Catástrofes, se está tão interessado.
— O Livro...
— Ah, vamos — rebateu Cal. Ele encarou Will e cerrou os dentes com tal irritação que o irmão se conteve e não perguntou mais nada. Eles continuaram pelo patamar da escada e passaram por uma porta.
— Este é o meu quarto. O pai arrumou outra cama quando soube que você ia ficar conosco.
— Soube? Por quem? — perguntou Will rapidamente.
Cal ergueu as sobrancelhas como se ele devesse saber, enquanto Will acabava de olhar o quarto simples, não muito maior do que seu próprio quarto. Duas camas estreitas e um armário praticamente o enchiam e havia muito pouco espaço entre os móveis. Ele se empoleirou na beira de uma das camas e, percebendo uma muda de roupas à esquerda do travesseiro, olhou para Cal.
— Sim, são suas — confirmou Cal.
— Acho que devia mesmo me trocar — murmurou Will, olhando o jeans sujo que vestia. Ele abriu a trouxa de roupas novas e sentiu o tecido das calças cerosas. Era rude, quase escamoso ao toque; Will imaginou que era uma cobertura para proteger da umidade.
Enquanto Cal se deitava de costas na cama, Will começou a trocar as roupas. Pareciam estranhas e frias em sua pele. As calças eram duras e ásperas, e adornadas com botões de metal e um cinto. Ele lutou para entrar na camisa sem se incomodar em desabotoá-la, depois, mexeu devagar os ombros e os braços como se experimentasse uma nova pele. Por fim, colocou nos ombros o casaco comprido com as conhecidas ombreiras que todos usavam. Embora satisfeito por ter tirado as roupas sujas, as substitutas pareciam duras e restritivas.
— Não se preocupe, elas afrouxam depois que você estiver aquecido — disse Cal, percebendo o desconforto dele. Em seguida, o menino se levantou e passou por cima da cama de Will para alcançar o armário, onde se ajoelhou e pegou uma velha lata de biscoitos Peek Freans embaixo dele.
— Dê uma olhada nisto aqui. — Ele pôs a lata na cama de Will e abriu a tampa. — Esta é minha coleção — anunciou ele com orgulho. Ele remexeu na lata, tirando um celular amassado que passou a Will, que de imediato tentou ligá-lo. Estava morto. Nem utilidade, nem ornamento: Will se lembrou da frase que o pai usava com freqüência nestas ocasiões, o que era irônico, considerando que a maioria das valiosas posses do dr. Burrows não se encaixava em nenhuma das duas categorias.
— E isto. — Cal pegou um pequeno rádio azul e, segurando-o no alto para mostrar a Will, ligou o aparelho. Ele estalou de estática quando o menino girou um dos controles.
— Não ia pegar nada aqui embaixo — disse Will, mas Cal já estava tirando outra coisa da lata.
— Olhe isto aqui, é incrível.
Ele retirou uns folhetos de carro enrolados, cheios de manchas brancas de mofo, e passou a Will como se fossem pergaminhos inestimáveis. Will franziu a testa ao examiná-los.
— São modelos muito antigos, sabia? — disse Will ao folhear as páginas de carros esporte e vans de família. — O novo Capri — leu ele em voz alta e sorriu consigo mesmo.
Ele fitou Cal e percebeu o olhar de completo enlevo no menino que arrumava uma seleção de barras de chocolate e um saco de doces em celofane no fundo da lata. Era como se tentasse encontrar a composição perfeita.
— Para que todo esse chocolate? — perguntou Will, esperando na verdade que o irmão lhe oferecesse um.
— Estou poupando para uma ocasião muito especial — disse Cal enquanto manipulava amorosamente uma barra de Fruit and Nut. — Adoro o cheiro deles. — Ele colocou a barra sob o nariz e cheirou com extravagância. — Isso basta para mim... não preciso abri-las. — Ele revirou os olhos, em êxtase.
— Então, onde conseguiu tudo isso? — perguntou Will, baixando os folhetos de carros, que se enrascaram novamente num tubo desordenado. Cal olhou preocupado para a porta do quarto e se aproximou um pouco de Will.
— O tio Tam — disse ele em voz baixa. — Ele costuma ir além da Colônia... Mas você não deve contar a ninguém. Seria o Desterro para ele. — Ele hesitou e olhou a porta de novo. — Ele até já foi à Crosta.
— Ele foi mesmo? — disse Will, analisando intensamente o rosto de Cal. — E quando é que ele faz isso?
— De vez em quando. — Cal falava tão suavemente que Will tinha dificuldade para ouvi-lo. — Ele troca coisas que... — ele parou, percebendo que estava se excedendo — ...que encontra.
— Onde? — perguntou Will.
— Na s viagens dele — disse Cal, obliquamente, ao guardar os objetos na lata, recolocar a tampa e empurrá-la de novo para debaixo do armário. Ainda ajoelhado, ele se virou para Will.
— Você vai sair, não vai? — perguntou ele com um sorriso tímido.
— Hein? — disse Will, surpreso com a pergunta repentina.
— Ora, pode me contar. Você vai fugir, não é? Eu sei que vai! — Cal estava literalmente vibrando de empolgação ao esperar pela resposta de Will.
— Quer dizer voltar a Highfield?
Cal assentiu com vigor.
— Talvez sim, talvez não. Ainda não sei — disse Will, de guarda erguida. Apesar de suas emoções e tudo o que sentia pela família recém-desco-berta, por enquanto ia tomar certas precauções; uma vozinha em sua cabeça ainda o alertava que isto podia fazer parte de um plano meticuloso para seduzi-lo e mantê-lo aqui para sempre, e até esse garoto que afirmava ser seu irmão podia estar trabalhando para os Styx. Will ainda não estava pronto para confiar nele, não inteiramente.
Cal olhava diretamente para Will.
— Bem, quando você for, eu vou com você. — Ele estava sorrindo, mas seus olhos eram mortalmente sérios. Will foi pego completamente desprevenido por esta sugestão e não sabia como responder, mas, a esta altura, foi salvo por um som insistente vindo de algum lugar da casa.
— É o jantar. O pai deve estar em casa. Vamos. — Cal pulou de pé e correu porta afora, descendo a escada até a sala de jantar, Will seguindo-o de perto. O sr. Jerome já estava sentado à cabeceira de uma mesa de madeira rústica. Enquanto eles entravam, o homem não se virou, os olhos fixos na mesa diante de si.
O cômodo não podia ser mais diferente da sala de visitas suntuosa que Will vira antes. Era espartana e tinha móveis básicos, parecendo ser construída de uma madeira que suportara séculos de desgaste. Num exame mais atento, ele pôde ver que a mesa e as cadeiras tinham sido fabricadas de uma mixórdia de diferentes madeiras de tons conflitantes e com veios desiguais; algumas partes eram enceradas ou envernizadas, enquanto outras eram rudes, com superfícies lascadas. As cadeiras de jantar de encosto alto pareciam particularmente frágeis e arcaicas, com pernas finas que estalaram e gemeram quando os garotos tomaram seus lugares dos dois lados do mal-humorado sr. Jerome, que mal olhou para Will. Ele se remexeu na cadeira, tentando ficar à vontade e se perguntando em vão como as cadeiras podiam acomodar alguém com o corpo impressionante do sr. Jerome sem desmoronar.
O homem deu um pigarro alto e, sem nenhum aviso, ele e Cal se inclinaram para frente, de olhos fechados e mãos cruzadas na mesa. Um Will constrangido fez o mesmo.
— O sol não mais se porá, nem a lua se retirará, pois o Senhor será sua eterna luz e cessarão os dias sombrios de seus lamentos sussurrou o sr. Jerome.
Will não conseguiu deixar de espiar o homem pelos olhos entreabertos. Achou tudo meio estranho — ninguém sequer pensaria em rezar em sua casa. Na verdade, o mais perto que eles chegaram de algo parecido com uma oração foi quando a mãe gritou: “Pelo amor de Deus, cala a boca!”
— Assim no alto, como é embaixo — terminou o sr. Jerome.
— Amém — ele e Cal disseram em uníssono, rápido demais para Will acompanhá-los. Eles se endireitaram nas cadeiras e o sr. Jerome bateu uma colher no copo diante dele.
Houve um momento de silêncio desagradável durante o qual ninguém na mesa olhou os demais. Depois, um homem de cabelo grande e seboso entrou bamboleando na sala. Seu rosto era profundamente vincado e as bochechas eram encovadas. Vestia um avental de couro e os olhos, cansados e apáticos, como chamas moribundas de velas em buracos cavernosos, pararam por pouco tempo em Will e rapidamente se viraram.
Enquanto observava o homem fazer repetidas viagens para dentro e fora da sala e arrastar-se a cada um deles para servir a comida, Will chegou à conclusão de que ele deve ter suportado um grande sofrimento, possivelmente uma doença grave.
O primeiro prato era um caldo ralo. Por seus vapores, Will pôde detectar tempero, como se uma quantidade copiosa de curry tivesse sido despejada ali. Este foi acompanhado de um prato de pequenos objetos brancos, parecidos com minipepinos descascados. Cal e o sr. Jerome não perderam tempo para começar a tomar a sopa e, entre exalações ruidosas, os dois faziam os ruídos mais ultrajantes quando sugavam o líquido das colheres, espirrando uma grande quantidade dele nas roupas, que eles simplesmente ignoraram. A sinfonia dos dois sorvendo e engolindo alto chegou a um crescendo tão ridículo que Will não conseguiu deixar de encará-los numa descrença completa.
Por fim, ele pegou sua própria colher e estava prestes a experimentar o primeiro bocado quando, pelo canto do olho, viu um dos objetos brancos no pratinho ao lado se mexer. Pensando ter imaginado, ele esvaziou o conteúdo da colher na tigela e a usou para virar o objeto. Com choque, Will descobriu que tinha uma fila de pernas pontudas marrom-escuras cuidadosamente dobradas por baixo. Era algum tipo de lagarta! Ele se sentou ereto e viu com pavor a coisa arquear as costas, as perninhas minúsculas se abrindo numa ola mexicana, como que para cumprimentado.
Seu primeiro pensamento foi que tinha que ser um engano, então, ele olhou para os pratinhos do sr. Jerome e de Cal, perguntando-se se devia dizer alguma coisa. Naquele exato momento, Cal pegou um dos objetos brancos de seu próprio prato e o mordeu, mastigando com prazer. Entre o polegar e o indicador, a metade restante da lagarta se retorcia, soltando um fluido claro na ponta dos dedos dele. Will sentiu o estômago revirar e largou a colher no prato de sopa com tal barulho que o serviçal entrou e, achando que não era desejado ali, saiu prontamente. Enquanto tentava aquietar a náusea, Will viu o sr. Jerome olhando diretamente para ele. Era um olhar de tanto ódio que o garoto, de imediato, virou a cara. Cal, por sua vez, estava absorto em terminar a meia-lagarta que ainda se retorcia, sugando-a para sua boca como se devorasse um fio muito gordo de espaguete. Will estremeceu; agora não havia como se obrigar a tomar a sopa, então, ele ficou sentado ali, sentindo-se distintamente nervoso e deslocado até que o serviçal retirou as tigelas. Depois apareceu o prato principal, uma papa cinza e mole tão indefinida quanto o caldo. Will cutucou desconfiado tudo o que havia no prato para ter certeza de que não continha nada vivo. Parecia bem inofensivo, então ele começou a pegar a comida sem entusiasmo, cedendo involuntariamente a cada bocado, acompanhado pela cacofonia gastronômica de seus companheiros de jantar.
Embora o sr. Jerome não tenha dito uma só palavra a Will durante toda a refeição, o ressentimento desenfreado que irradiava dele era dominador. Will não fazia idéia do motivo, mas estava vagamente começando a se perguntar se tinha alguma coisa a ver com sua mãe verdadeira, a pessoa de quem ninguém parecia estar preparado para falar. Ou será que o homem simplesmente desprezava gente da Crosta, como ele? O que quer que fosse, ele queria que o homem dissesse alguma coisa, qualquer coisa, só para quebrar o silêncio angustiante. A julgar pelo comportamento do sr. Jerome, Will sabia muito bem que não seria agradável quando ele falasse; estava preparado para isso. Só queria acabar com tudo aquilo. Começou a transpirar e tentou afrouxar a gola engomada da nova camisa, passando o dedo por dentro do colarinho. Para Will, parecia que a sala era tomada por uma víbora gelada e venenosa; ele se sentiu sufocado por ela.
Seu alívio finalmente chegou quando, terminado o prato de papa, o sr. Jerome bebeu um copo de água escura e se levantou de repente. Dobrou o guardanapo duas vezes e o atirou despreocupadamente na mesa. Ele chegou à porta assim que o infeliz do serviçal estava entrando com uma tigela de cobre nas mãos. Para horror de Will, o sr. Jerome lhe deu uma cotovelada brutal. Will pensou que o homem ia cair ao ser jogado na parede. Ele lutou para recuperar o equilíbrio enquanto o conteúdo da tigela se derramava, e maçãs e laranjas rolaram pelo chão e pararam embaixo da mesa.
Como se o comportamento do sr. Jerome não fosse nada extraordinário, o serviçal não fez mais do que murmurar. Will pôde ver um corte em seu lábio e o sangue escorrendo pelo queixo enquanto o infeliz engatinhava na base de sua cadeira, pegando a fruta.
O garoto estava estupefato, mas Cal parecia ignorar completamente o incidente. Will olhou o homem patético até ele sair da sala e depois, concluindo que não podia fazer nada, voltou sua atenção para a tigela de frutas frescas: havia bananas, pêras e alguns figos, além das maçãs e laranjas. Ele se serviu, grato por alguma coisa familiar e reconhecível depois dos dois primeiros pratos. Nesse momento, a porta da frente bateu com tal estrondo que os caixilhos das janelas tremeram. Os garotos ouviram os passos do sr. Jerome afastando-se pelo caminho da frente. Foi Will quem quebrou o silêncio.
— Ele não gosta muito de mim, não é?
Cal sacudiu a cabeça enquanto descascava uma laranja.
— Por quê...? — Will se interrompeu quando o serviçal voltou e parou submisso atrás da cadeira de Cal.
— Pode ir — ordenou Cal rudemente, sem sequer se dar o trabalho de olhar o homem, que deslizou em silêncio para fora da sala.
— Quem era esse? — perguntou Will.
— Ah, esse era só o Watkins.
Will não disse nada por um momento, depois perguntou:
— Que nome disse que era o dele?
— Watkins... Terry Watkins.
Will repetiu o nome para si mesmo várias vezes.
— Tenho certeza de que conheço de algum lugar. — Embora não reconhecesse a origem, o nome lhe incitou um pressentimento.
Cal continuou a comer, desfrutando da confusão de Will, e então o irmão se lembrou, com um sobressalto.
— Eles desapareceram, toda a família!
— Sim, certamente desapareceram.
Confuso, Will rapidamente olhou para Cal.
— Eles foram raptados!
— Tiveram que ser, houve um problema. Watkins acabou descobrindo um canal de ar e não podíamos deixar que contasse a ninguém.
— Mas esse não pode ser o sr. Watkins... Ele era um homem grandalhão. Eu o vi... os filhos dele eram da minha escola — disse Will. — Não, não pode ser a mesma pessoa.
— Ele e a família foram postos para trabalhar — disse Cal friamente.
— Mas... — Will gaguejou ao fazer malabarismos com a imagem mental do sr. Watkins como ele era e como ficou agora — ...ele parece ter uns cem anos. O que aconteceu com ele? — Will não pôde deixar de pensar em seus próprios apuros, e nos de Chester. Então, este seria seu destino: obrigados a se escravizar a essa gente?
— Como acabei de dizer, todos foram postos para trabalhar — repetiu Cal, erguendo uma pêra para cheirar a casca. Percebendo que havia uma mancha de sangue do sr. Watkins nela, ele a limpou com a camisa antes de dar uma dentada.
Will agora considerava o irmão com um novo olhar, tentando entendê-lo. O calor que começava a sentir em relação a ele tinha se evaporado completamente. Havia um sentimento de vingança, até uma hostilidade evidente no menino mais novo que Will não entendia, mas não se importava muito com isso. Em um momento, ele estava dizendo que queria fugir da Colônia, no outro, agia como se estivesse completamente à vontade ali.
A linha de raciocínio de Will foi interrompida quando Cal olhou por sobre a cadeira vazia do pai e suspirou.
— Isto é muito difícil para o pai, mas você tem que lhe dar tempo. Imagino que você lhe traga muitas lembranças.
— Sobre o quê, exatamente? — rebateu Will, sem sentir uma ta de simpatia pelo velho rabugento. Era ali que sua idéia de uma a nova família se desmanchava; se ele visse o sr. Jerome de novo, desmancharia mais rápido.
— Sobre a mãe, é claro. O tio Tam diz que ela sempre foi meio rebelde. — Cal suspirou, depois fez silêncio.
— Mas... aconteceu alguma coisa ruim?
— Nós tínhamos um irmão. Era só um bebê. Ele morreu de febre. Depois disso, ela fugiu. — Os olhos de Cal assumiram um ar pensativo.
— Um irmão — Will lhe fez eco.
Cal o fitou, qualquer sugestão de seu habitual sorriso estava ausente do rosto.
— Ela estava tentando nos levar quando os Styx a alcançaram.
— Então ela escapou?
— Sim, mas foi por pouco, e é por isso que ainda estou aqui. — Cal deu outra dentada na pêra e ainda mastigava quando falou de novo. — O tio Tam disse que ela era a única pessoa que ele conhecia que saiu e ficou lá fora.
— Ela ainda está viva?
Cal assentiu.
— Até onde sabemos, sim. Mas ela quebrou as leis, e, se você quebrar a lei, os Styx jamais vão desistir, mesmo que você chegue à Crosta. Não vai terminar lá. Um dia eles vão pegá-lo, e depois vão mesmo castigar você.
— Castigar? Como?
— No caso da mãe, execução — disse ele sucintamente. — É por isso que você tem que pisar com muito cuidado. — Em algum lugar ao longe um sino começou a tocar. Cal se levantou e olhou pela janela. — Sete badaladas. Precisamos ir.
Na rua, Cal seguiu à frente e Will teve dificuldade para acompanhá-lo com as novas calças esfolando as coxas a cada passo. Era como se tivessem entrado num rio de gente. As ruas fervilhavam, todos disparando freneticamente para lados diferentes como se estivessem atrasados para alguma coisa. Parecia, no som e no visual, um bando confuso de aves coriáceas alçando vôo. Will seguiu Cal e, depois de alguns giros, eles se uniram ao final de uma fila na calçada de uma construção simples, parecida com um depósito. Diante de cada uma das portas de madeira com tachão na entrada, havia dois Styx naquela pose característica, arqueados como diretores de escola vingativos prestes a atacar. Will baixou a cabeça, tentando se misturar à multidão e evitar as pupilas negras dos Styx, que sabia que cairiam nele.
Dentro do prédio, o salão era enganosamente grande — tinha cerca de metade do tamanho de um campo de futebol. Lajotas extensas e reluzentes com trechos escuros de umidade formavam o piso. As paredes eram grosseiramente rebocadas e caiadas. Olhando em volta, ele viu plataformas elevadas nos quatro cantos do salão, púlpitos de madeira tosca, cada um deles com um Styx, perscrutando a reunião como falcões.
Havia dois grandes quadros a óleo entre as paredes esquerda e direita. Devido à massa de pessoas no caminho, Will não tinha uma visão clara da pintura da direita, então se virou para examinar a que estava mais perto. Em primeiro plano, havia um homem de casaco preto e guarda-pó verde-escuro que exibia uma cartola no alto de um rosto um tanto lúgubre, com suíças. Observava uma grande folha de papel, que podia ser uma planta, aberta em suas mãos. E parecia estar no meio de uma espécie de canteiro de obras. Agrupados ao lado dele havia muitos outros homens com picaretas e pás, todos olhando-o com uma admiração extasiada. Por nenhum motivo em particular, isso trouxe à mente de Will as imagens que ele vira de Jesus e seus discípulos.
— Quem é esse? — perguntou Will a Cal, aproximando-se do quadro enquanto as pessoas esbarravam neles.
— Sir Gabriel Martineau, é claro. Chama-se “O Início da Escavação”.
Com a multidão sempre crescente movendo-se lentamente no salão, Will teve que lançar a cabeça de um lado para outro para ver melhor a tela. Além da figura principal, que Will agora sabia que era o próprio Martineau, as faces espectrais dos trabalhadores o fascinaram. Raios prateados do que podia ser o luar irradiavam de cima e caíam em seus rostos, que cintilavam com uma suave luminosidade de santos. E, para aumentar este efeito, muitos pareciam ter uma luz ainda maior diretamente acima da cabeça, como se tivessem halos.
— Não — murmurou Will para si mesmo, percebendo com um sobressalto que não eram halos, mas cabelos brancos.
— Os outros — disse ele a Cal. — Quem são eles?
Cal estava prestes a responder quando um colono corpulento lhe deu um encontrão rude, quase fazendo-o rodar completamente. O homem continuou decidido em seu caminho sem sequer se desculpar, mas Cal não pareceu nem um pouco abalado com a conduta do sujeito. Will ainda esperava por uma resposta quando Cal voltou a se virar de frente para ele. Falou como se estivesse se dirigindo a alguém irremediavelmente idiota.
— São nossos antepassados, Will — ele suspirou.
— Ah.
Apesar do fato de Will estar ardendo de curiosidade sobre o quadro, era inútil tentar ver mais alguma coisa, sua visão agora estava quase completamente obstruída pela massa de pessoas. Em vez disso, ele se virou para a frente do salão, onde havia uns dez bancos de madeira entalhada, apinhadas de colonos sentados muito próximos. Colocando-se na ponta dos pés para ver o que estava além deles, Will pôde distinguir um enorme crucifixo de ferro na parede, parecia ser feito de duas seções de trilho de trem, unidos por imensos rebites de cabeça redonda.
Cal o puxou pela manga e os dois abriram caminho pela reunião e se colocaram mais perto dos bancos. As portas se fecharam num baque e Will percebeu que o salão lotara em sua capacidade máxima no menor tempo possível. Era sufocante, ele estava espremido entre Cal de um lado e colo-nos parrudos do outro. O salão esquentava rapidamente e farrapos de vapor feito fantasmas começavam a se elevar das roupas úmidas da multidão, circundando as luzes do teto.
O rebuliço de conversa morreu quando um Styx subiu ao púlpito ao lado da cruz de metal. Vestia uma toga preta e comprida, e os olhos brilhantes perfuraram o ar abafado. Por um breve instante, ele os fechou e inclinou a cabeça para a frente. Depois, a ergueu devagar, a toga preta se abrindo, deixando-o parecido com um morcego prestes a levantar vôo enquanto ele estendia os braços para a congregação e começava a falar de um jeito monástico, sibilante e monótono. No começo, Will não conseguiu entender o que dizia, embora, dos quatro cantos do salão, as vozes dos outros Styx reiterassem as palavras do orador em sussurros ásperos, um som não muito diferente do rasgar de pergaminhos secos. Will ouviu com mais atenção quando o orador elevou a voz.
— Saibam, irmãos, saibam — disse, o olhar ceifando a congregação enquanto ele soltava a respiração melodramaticamente.
— A superfície da Terra é tomada de criaturas em constante estado de guerra. Milhões perecem dos dois lados e não há limites para a brutalidade de sua vilania. As vastas florestas foram por eles derrubadas e os pastos corrompidos com seu veneno. — Em volta, Will ouvia murmúrios de aquiescência. O orador Styx inclinou-se para a frente, segurando a beira do púlpito com os dedos pálidos.
— Sua voracidade só tem par em seus apetites pela morte, pela doença, pelo terror e pela ruína de tudo o que vive. E, apesar de suas iniqüidades, eles aspiram a se elevar ao firmamento... mas, atentem para isto, o peso excessivo de seus pecados os prenderá embaixo. — Houve uma pausa enquanto os olhos negros varriam a multidão e, levando o braço esquerdo acima da cabeça, com o indicador longo e ossudo apontando para o alto, ele continuou.
— Nada permanece no solo ou nos grandes oceanos que não venha a ser caçado, perturbado ou saqueado. Para os seres vivos abatidos aos bandos, tais corrompidos são a um só tempo o sepulcro e o meio de transição.
“E quando chegar o Juízo”, agora ele baixou o braço e apontou agourentamente os membros da congregação através do ar nevoento, “e atentem para estas palavras... eles serão, então, lançados ao abismo e se perderão para sempre do Senhor... e neste dia, os justos, os corretos, nós, do caminho do bem, mais uma vez voltaremos para reclamar a superfície, recomeçar, construir um novo domínio... a nova Jerusalém. Pois isto, nos ensinaram e nos deram a conhecer nossos antepassados, transmitido a nós ao longo dos tempos pelo Livro das Catástrofes.”
Fez-se um silêncio no salão, um silêncio absoluto, sem ser rompido nem por uma tosse ou arrastar de pés. Depois, o orador voltou a falar numa voz mais calma, quase no tom de quem conversa.
— Então, que eles saibam, que compreendam. — Ele tombou a cabeça.
Will pensou ter visto o sr. Jerome sentado nos bancos, mas não podia ter certeza porque ele estava completamente cercado.
Então, de repente, toda a congregação se uniu à ladainha do Styx:
— A Terra é do Senhor, e de Seus seguidores, a Terra e tudo o que nela habita. Manifestamos nossa eterna gratidão a nosso Salvador, Sir Gabriel, e aos Pais Fundadores por sua liderança e por fluírem um no outro, como tudo o que há na Terra de Deus também existe no mais alto nível, o Reino de Deus.
Houve uma pausa momentânea e o Styx falou novamente.
— Assim no alto, como é embaixo.
As vozes da congregação explodiram num amém enquanto o Styx dava um passo para trás e Will o perdia de vista. Ele girou para fazer uma pergunta a Cal mas não houve tempo, porque a congregação de imediato começou a seguir para a porta, deixando o salão com a rapidez com que chegou. Os meninos foram arrastados pela maré de gente até que se viram de volta à rua, onde ficaram observando as pessoas partirem em diferentes direções.
— Não entendo essa história de “assim no alto, como é embaixo” — disse Will a Cal em voz baixa. — Pensei que todo mundo odiasse o povo da Crosta.
— “No alto” não é a Crosta — respondeu Cal, tão alto e num tom tão petulante que vários homens corpulentos ao alcance se viraram para olhar para Will com um esgar de repulsa. Ele estremeceu; estava começando a se perguntar se era tão bom assim ter um irmão mais novo.
— Mas com que freqüência vocês têm que fazer isso... ir à igreja? — arriscou-se Will, quando se recuperou da última resposta de Cal.
— Uma vez por dia — disse Cal. — Vocês vão à igreja na Crosta também, não é?
— Nossa família não vai.
— Que estranho — disse Cal, olhando rapidamente em volta para ver se alguém podia ouvir. — Mas é um monte de conversa fiada — zombou ele em voz baixa. — Vamos, precisamos ver o Tam. Ele estará na taverna em Low Holborn.
Ao chegarem ao final da rua e virarem a esquina, um bando de estorninhos brancos espiralou acima deles e rodopiou para a área da caverna aonde iam os garotos. Aparecendo do nada, Bartleby se juntou a eles, abanando o rabo e tremendo a base do queixo ao ver as aves, soltando um miado doce e melancólico que não combinava em nada com sua aparência.
— Vamos, seu bicho maluco, você nunca os pega mesmo — disse Cal enquanto o animal passava por eles, a cabeça elevada, ansiando pelos passarinhos.
Ao seguirem em frente, os irmãos passaram por galpões e pequenas oficinas: uma ferraria onde o ferreiro, um velho, iluminado de trás pela chama da fornalha, martelava incessantemente em uma bigorna, e lugares com nomes como Peças para Carroças e Carruagens Geo. Blueskin e Produtos Químicos Erasmus. Exercendo fascínio particular sobre Will, havia um jardim escuro de aparência gordurosa, cheio de carruagens e maquina-ria quebrada.
— A gente não devia estar voltando? — perguntou Will, parando para olhar as engenhocas estranhas pela grade de ferro batido.
— Não, o pai vai demorar um pouco para chegar em casa disse Cal. — Depressa, precisamos andar.
Ao avançarem para o que Will supôs ser o meio da caverna, ele não conseguiu deixar de olhar tudo em volta, a paisagem incrível e as casas espremidas em filas aparentemente intermináveis. Até agora, Will não havia avaliado plenamente como este lugar era enorme. E, olhando para cima, viu uma névoa bruxuleante, uma coisa viva e móvel que pendia como uma nuvem acima do caos de telhados, alimentada pelo brilho coletivo de todos os globos luminosos de baixo.
Por um momento, Will se lembrou de Highfield durante a calmaria de verão, só que, onde deveria haver o céu e a luz do sol, só havia vislumbres de uma enorme cobertura de pedra. Cal acelerou o ritmo ao passarem por colonos que, pelos olhares demorados, evidentemente sabiam quem era Will. Vários atravessaram a rua para evitá-lo, murmurando, e outros pararam onde estavam, fuzilando-o com os olhos. Alguns até cuspiram na direção dele.
Will ficou bastante perturbado.
— Por que estão fazendo isso? — perguntou ele baixinho, colocando-se atrás do irmão.
— Ignore-os — respondeu Cal com confiança.
— Parece que eles me odeiam ou coisa assim.
— É o que sempre acontece com os estranhos.
— Mas... — começou Will.
— Olha, não se preocupe com isso, é sério. Vai passar, você vai ver. É porque você é novo e, não se esqueça, todos sabem quem é a sua mãe — disse Cal. — Eles não vão fazer nada com você. — De repente, ele parou e se virou para Will. — Mas por aqui, fique de cabeça baixa e continue andando. Entendeu? Não pare para nada.
Will só entendeu do que Cal estava falando quando viu a entrada do outro lado do menino: era uma passagem pouco maior do que a largura do ombro. Cal entrou por ela e Will o seguiu com relutância. Era escura e claustrofóbica, e pairava no ar o fedor de enxofre de esgoto antigo. Seus pés espadanavam em poças invisíveis de líquidos inidentificáveis. Ele teve o cuidado de não tocar nas paredes, de onde escorria um limo escuro e gorduroso.
Will ficou agradecido quando finalmente chegaram à luz fraca, mas arfou ao ver uma cena saída direto da Londres vitoriana. Construções assomavam dos dois lados do beco escuro, inclinando-se em ângulos tão precários que os andares superiores quase se uniam. Tinham estrutura de madeira e encontravam-se num terrível estado de abandono. A maior parte das janelas ou estava quebrada, ou coberta de tábuas.
Embora não pudesse dizer de onde se originavam, Will ouviu vozes, gritos e risos vindo de todo lado. Havia uma citara estranha. Em algum lugar um bebê berrava insistentemente e cães latiam. Ao passarem apressados pelas fachadas deterioradas, Will sentiu cheiro de carvão e fumaça de tabaco e, pelas portas abertas, pôde ver gente espremida junto a mesas. Homens em manga de camisa penduravam-se para fora das janelas, olhando apaticamente o chão e fumando seus cachimbos. Havia um valão aberto no meio do beco em que corria um regato lento de esgoto bruto, arrastando lixo vegetal e outros detritos. Will quase tropeçou nele e pulou rapidamente para a beira do beco a fim de evitá-lo.
— Não! Cuidado! — Cal alertou rapidamente. — Continue na lateral!
Enquanto eles se apressavam, Will mal piscava os olhos, que se rega-lavam com tudo o que viam ali. Murmurou “é simplesmente incrível”, repetidas vezes para si mesmo, perguntando-se se o pai viera a este lugar, um pedaço vivo da história, quando sua atenção foi atraída por outra coisa. Havia gente nas passagens estreitas que se ramificavam dos dois lados. Silhuetas escuras e misteriosas se mexiam e ele ouviu vozes roucas, trechos de murmúrios histéricos e até, a certa altura, o som distante de alguém gritando de agonia.
Uma figura escura se atirou de uma dessas passagens. Era um homem com um xale preto na cabeça, que ele puxou, revelando o rosto nodoso. Era coberto de uma camada repulsiva de suor e a pele era da cor de ossos velhos. Ele pegou o braço de Will, os olhos amarelos e remelentos olhando fundo os do garoto assustado.
— Ah, o que procura aqui, meu docinho? — ofegou ele asmaticamente, o sorriso torto revelando uma fila de tocos de dentes marrons e desiguais. Bartleby rosnou enquanto Cal logo se colocava entre Will e o homem, arrancando o irmão do aperto do sujeito, e não largando mais nas várias voltas pelo beco até que enfim saíssem e voltassem à rua iluminada. Will soltou um suspiro de alívio.
— Que lugar era aquele?
— Os Cortiços. É ali que moram os pobres. E você só viu os arredores... não ia querer se ver no meio deles — disse Cal, disparando à frente com tanta rapidez que Will se esforçou para acompanhá-lo. Ainda sentia os efeitos colaterais das dificuldades que passou no Cárcere; seu peito doía e as pernas eram pesadas. Mas não ia deixar que Cal visse sua fraqueza, e se obrigou a continuar.
Enquanto o gato quicava na distância, Will seguia obstinadamente Cal, que pulava as poças maiores de água e contornava o ocasional aguaceiro que esguichava. Caindo das sombras do teto da caverna, estas torrentes pareciam vir de lugar nenhum, como gêiseres de cabeça para baixo.
Eles seguiram por uma série de ruas largas, apinhadas de casas estreitas com varanda até que, ao longe, Will viu as luzes de uma taverna no alto de uma esquina íngreme, onde duas ruas se encontravam. Havia pessoas reunidas na calçada em vários estados de embriaguez, rindo alto e gritando, e de algum lugar vinha o canto estridente de uma mulher. Ao se aproximar, Will pôde distinguir uma placa pintada, “The Buttock & File”, com a imagem de uma locomotiva, a mais estranha que ele vira na vida, que tinha, ao que parecia, um diabo arquetípico como condutor, de pele vermelha e cheio de chifres, tridente e o rabo com ponta de flecha.
A fachada e até as janelas da taverna eram pintadas de preto e cobertas de uma camada de fuligem cinza. As pessoas estavam tão espremidas ali que transbordavam para a calçada. Todas bebiam de canecos amassados de peltre, enquanto várias fumavam seus cachimbos compridos de argila ou objetos no formato de tulipa, que Will não reconheceu, mas que se assemelhavam a guardanapos sujos.
Grudado atrás de Cal, eles passaram por um homem de cartola parado a uma mesa pequena e dobrável. Gritava “Encontrem a dama pintada! Encontrem a dama pintada!” a alguns espectadores interessados enquanto cortava habilidosamente um baralho usando uma única mão.
— Meu bom senhor — proclamou o homem ao ver um dos espectadores avançar e colocar uma moeda na baeta verde da mesa. As cartas foram distribuídas e Will lamentou não poder ver o resultado do jogo, mas de jeito nenhum se separaria do irmão enquanto se metiam no meio da multidão. Cercado por toda essa gente, ele se sentia vulnerável; e estava se questionando se podia convencer Cal a levá-lo para casa quando trovejou uma voz simpática.
— Cal! Traga Will aqui!
Houve uma calmaria imediata na tagarelice em volta deles e, no silêncio, todas as cabeças se viraram para Will. Tam surgiu de um grupo de pessoas e acenou com extravagância para os dois garotos. As faces na multidão na calçada da taverna eram variadas: curiosas, sorridentes, inexpressivas — mas a maioria rinha um esgar de hostilidade descontrolada. Tam parecia não dar a mínima para isso. Atirou os braços grossos nos ombros dos sobrinhos virou a cabeça para enfrentar a multidão, encarando-os num desafio mudo.
A cacofonia continuou dentro da taverna, servindo apenas para aumentar o bocejo de silêncio do lado de fora e a crescente tensão que o acompanhava, ainda mais intensa. Este silêncio horrível encheu os ouvidos de Will, esmagando, inchando e cobrindo todo o resto.
Depois um arroto, o maior e mais alto que Will ouvira na vida, saiu de alguém na multidão. À medida que os últimos ecos voltavam dos prédios vizinhos, o encanto foi quebrado e toda a multidão explodiu numa gargalhada áspera, entremeada por gritos e o ocasional uivo de lobo.
Logo toda a algazarra diminuiu e as pessoas se acomodaram novamente, o ruído de conversa reaparecendo enquanto um baixinho era parabenizado por todos, recebendo tapinhas nas costas com tanta energia que teve que cobrir a bebida com a mão para evitar que se derramasse.
Ainda tremendamente constrangido, Will ficou de cabeça baixa. Não pôde deixar de perceber quando Bartleby, esticado sob o banco onde o homem se sentava, levantou-se de repente, como se um parasita ou outra coisa o tivesse mordido. Dobrando-se, o gato começou a lamber as partes inferiores com uma perna traseira apontada para cima, ficando extraordinariamente parecido com um peru mal depenado.
— Agora vai conhecer a ralé — disse tio Tam, os olhos passando brevemente pela multidão —, permita-me apresentá-lo à realeza, a crème de la crème. Este é Joe Waites — acrescentou, colocando Will de frente para um velho enrugado. Sua cabeça era encimada por um barrete apertado que parecia comprimir a metade superior da cara, deixando os olhos esbugalhados e içando as bochechas num sorriso involuntário. Um único dente se projetava da arcada superior como uma presa de marfim. Ele ofereceu a mão a Will, que a apertou com relutância, um tanto surpreso por achá-la quente e seca.
— E este — Tam inclinou a cabeça para um homem garboso que vestia um vulgar terno xadrez de três peças e óculos de aro preto — é Jesse Shingles. — O homem fez uma mesura elegante e depois riu, erguendo as sobrancelhas grossas.
— E, não menos importante, o inigualável Imago Freebone. — Um homem de cabelo molhado e comprido, puxado num rabo-de-cavalo de motoqueiro, estendeu uma mão enluvada, o casaco de couro volumoso se abrindo e revelando o corpo enorme de barril. Will ficou tão intimidado com a massa do homem que quase deu um passo para trás.
— É um grande prazer conhecer tal lenda sagrada, sendo nós tão humildes personagens — disse Imago, curvando o corpanzil para a frente e penteando um topete inexistente com a outra mão.
— Hã... olá — disse Will, sem saber o que fazer dele.
— Deixe disso. — Tam sorriu.
Imago se endireitou, oferecendo a mão novamente e, num tom de voz normal, disse:
— Will, é muito bom conhecer você. — O garoto apertou a mão nova-mente. — Eu não devia brincar — acrescentou Imago com sinceridade. — Todos sabemos o que você passou, sabemos bem demais. — Seus olhos eram calorosos e simpáticos enquanto ele continuava a segurar a mão de Will entre as dele, soltando-a por fim com um aperto reconfortante. — Eu mesmo tive o prazer da Luz Negra várias vezes, cortesia de nossos caros amigos.
— É, deu-lhe a azia mais medonha do mundo — disse Jesse Shingles com um sorrisinho.
Will estava bastante amedrontado com os amigos do tio e sua aparência estranha, mas, olhando em volta, ocorreu-lhe que eles não eram tão diferentes da maioria dos farristas na calçada da taverna.
— Vou lhes pagar um trago de New London. — Tam entregou dois canecos aos garotos. — Vá com calma, Will, você não saboreou nada como isto na vida.
— Por quê? O que tem nela? — perguntou Will, olhando desconfiado o líquido acinzentado encimado por uma espuma fina.
— Não vai querer saber, meu rapaz, não vai querer mesmo — disse Tam e os amigos riram; Joe Waites soltou piados peculiares de passarinho, enquanto Imago atirou a cabeça para trás e deu uma gargalhada extravagante mas completamente silenciosa, sacudindo com vigor os ombros grandes. Debaixo do banco, Bartleby grunhia e lambia os lábios com ruído.
— Então você foi a seu primeiro serviço religioso — quis saber o tio Tam. — O que achou dele?
— Foi, é... interessante — respondeu Will, sem querer se comprometer.
— Depois de alguns anos, não será — afirmou o tio. — Ainda assim, mantém os Pescoços Brancos à distância. — Ele tomou um longo gole da caneca, depois endireitou as costas e soltou um suspiro satisfeito. — É, se eu ganhasse um florim por cada “assim no alto, como é embaixo” que dissesse, seria hoje um homem rico.
— Assim o ontem, como é o amanhã — disse Joe Waites numa voz cansada e anasalada, imitando um orador Styx. — “Assim declara o Livro das Catástrofes.” — Ele deu um bocejo exagerado, que permitiu a Will uma vi-são inquietante de sua gengiva rosada e o dente triste e solitário.
— E se você ouviu uma catástrofe, ouviu todas. — Imago cutucou as costelas de Will.
— Amém — entoaram em coro Jesse Shingles e Joe Waites, batendo os canecos e rindo. — Amém a isso!
— Ora, ora, traz conforto a eles, que não pensam por si mesmos — disse Tam.
Will olhou Cal pelo canto do olho e viu que ele havia se unido ao grupo e ria com os outros. Isto deixou Will desnorteado; às vezes o irmão parecia estar cheio de zelo religioso, mas em outras ocasiões não se furtava a demonstrar uma total falta de respeito, até desdém por isso.
— Então, Will, do que mais sente falta na vida lá em cima? — perguntou, de repente, Jesse Shingles, apontando o polegar para o teto rochoso. Will ficou inseguro e estava prestes a dizer alguma coisa quando o homenzinho continuou. — Sinto falta de peixe e fritas; mas não é que eu tenha provado alguma vez. — Ele piscou para Imago como quem conspira.
— Já chega disso. — A testa de Tam se vincou de preocupação enquanto seus olhos percorriam as pessoas reunidas em volta deles. — Não é hora nem lugar.
Cal bebia satisfeito seu drinque, mas percebeu que Will estava meio reticente com o dele. Ele enxugou a boca com as costas da mão e se virou para o irmão, gesticulando para o caneco de Will, ainda intocado.
— Ande, experimente!
Will tomou um gole inseguro do fluido esbranquiçado e o segurou na boca por um momento antes de engolir.
— E então? — perguntou Cal.
Will passou a língua pelos lábios.
— Nada mal — respondeu ele. Nesse momento a bebida fez efeito. Seus olhos se arregalaram e encheram-se de água, e a garganta começou a arder. Ele ficou engrolado, tentando em vão reprimir a tosse que se seguiu. Tam e Cal sorriram. — Não tenho idade para beber álcool — resmungou Will, colocando o caneco na beira da mesa.
— E quem é que vai impedi-lo? As regras são muito diferentes por aqui. Desde que fique dentro da lei, faça sua parte e compareça aos serviços religiosos, ninguém se importa de você aliviar um pouco a tensão. Não é da conta de ninguém mesmo — disse Tam, dando-lhe tapinhas gentis nas costas.
Como que para mostrar sua concordância, o grupo reunido ergueu os canecos e os bateu com saudações de “Latrinas ao alto!”.
E assim continuou, bebida após bebida, até a quarta ou quinta rodada — Will perdeu a conta. Tam tinha acabado de contar uma piada enrolada e insondável sobre um policial flatulento e a filha de um malabarista cego, em que Will não viu pé nem cabeça, embora todos os outros a achassem hilária.
Pegando o caneco e ainda rindo, de repente Tam olhou a bebida e, com o polegar e o indicador, tirou alguma coisa da espuma.
— Peguei a maldita lesma de novo — disse ele, enquanto os outros explodiam mais uma vez numa gargalhada descontrolada.
— Neste caso...! — Tam riu e, para surpresa de Will, colocou o objeto cinza e mole na língua. Ele o moveu pela boca antes de mastigado e depois engolir, para uma explosão de aplausos dos amigos.
No silêncio que se seguiu, Will sentia-se suficientemente cheio da coragem de bêbado para falar.
— Tam... tio Tam... preciso de sua ajuda.
— O que quiser, garoto — disse Tam, pousando a mão no ombro de Will. — Só precisa pedir.
Mas por onde começar? Por onde ele ia começar? Tinha tantas preocupações girando pela cabeça embriagada... encontrar o pai... e saber da irmã... e da mãe... mas que mãe? Em meio a esta névoa, cristalizou-se um pensamento premente — uma coisa, acima de todas as outras, que ele precisava fazer.
— Tenho que libertar o Chester — soltou Will.
— Shhh! — Tam sibilou. Ele olhou nervoso em volta. Todos se aproximaram dele numa roda estreita e reservada.
— Tem alguma idéia do que está pedindo? — perguntou o tio em voz baixa.
Will olhou confuso para ele, sem saber como responder.
— E para onde você iria? Voltaria a Highfield? Acha que estaria seguro lá de novo, com os Styx caçando você? Você não ia durar uma semana. Quem iria protegê-lo?
— Posso procurar a polícia — sugeriu Will. — Eles iam...
— Você não está ouvindo. Eles têm gente em toda parte — reiterou Tam vigorosamente.
— E não só em Highfield — intrometeu-se Imago em voz baixa. — Não se pode confiar em ninguém da Crosta, nem na polícia... em ninguém.
Tam assentiu.
— Precisa sumir em um lugar em que eles jamais pensariam em procurar por você. Sabe aonde poderia ir?
Will não sabia se era do cansaço ou do efeito do álcool, mas estava achando difícil conter as lágrimas.
— Mas não posso simplesmente não fazer nada. Quando precisei de ajuda para encontrar meu pai — disse ele com a voz rouca, a garganta se fechando de emoção —, a única pessoa em que pude confiar foi Chester, e agora ele está no Cárcere... Por minha causa. Eu devo isso a ele.
— Tem alguma idéia do que é ser um fugitivo? — perguntou Tam. — Passar o resto da vida correndo de cada sombra, sem um único amigo para ajudá-lo porque você é um risco para todos que o cercam?
Will engoliu em seco ruidosamente enquanto apreendia as palavras de Tam, ciente de que todos os olhos do pequeno grupo estavam nele.
— No seu lugar, eu me esqueceria de Chester — disse Tam severa-mente.
— Eu... não... posso — disse Will com a voz tensa, olhando a própria bebida. — Não...
— É assim que as coisas são aqui embaixo, Will... você vai se acostumar com elas — disse Tam, sacudindo a cabeça enfaticamente.
O bom humor de minutos atrás evaporou por completo e agora o rosto de Cal e dos homens de Tam, reunidos em volta de Will, eram severos e pouco solidários. Ele não sabia se tinha cometido uma gafe e disse a coisa totalmente errada, mas não podia deixar como estava — seus sentimentos eram fortes demais. Ele ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Tam.
— Mas por que vocês todos ficam aqui embaixo? — perguntou ele. — Por que todo mundo simplesmente não sai... não foge?
— Porque — começou Tam lentamente — apesar de tudo, aqui é o lar. Pode não ser grande coisa, mas é só o que a maioria das pessoas conhece.
— Nossas famílias estão aqui — acrescentou Joe Waites com energia. — Acha que podemos simplesmente desaparecer e deixá-los? Faz alguma idéia do que aconteceria se fizéssemos isso?
— Represálias — disse Imago numa voz que mal era audível. Os Styx sacrificariam muitos deles.
— Rios de sangue — sussurrou Tam.
Joe Waites se aproximou mais de Will.
— Pensa realmente que ficaríamos felizes vivendo num lugar desconhecido, onde tudo é tão completamente estranho para nós? Aonde iríamos? O que faríamos? — desabafou ele, tremendo de agitação ao falar. Era evidente que estava muito aborrecido com as perguntas de Will e só começou a recuperar a compostura quando Tam colocou a mão reconfortante em seu ombro.
— Ficaríamos deslocados... no tempo e no espaço — disse Jesse Shingles.
Will só conseguiu assentir, intimidado pela intensidade de emoções que suscitou no grupo. Ele suspirou, trêmulo.
— Bom, seja o que for, tenho que tirar Chester de lá. Mesmo que faça isso sozinho — disse ele.
Tam olhou por um momento e depois sacudiu a cabeça.
— Teimoso feito uma mula. É como dizem, tal mãe, tal filho — disse ele, um sorriso voltando ao rosto. — Sabe, é um mistério como você se parece com ela. Depois que Sarah cismava com alguma coisa, não havia como demovê-la. — Ele afagou o cabelo de Will com a mão enorme. — Teimoso feito uma maldita mula.
Imago deu um tapinha no braço de Tam.
— É ele de novo.
Aliviado por não ser mais o centro das atenções, Will foi meio lento para entender mas, quando percebeu, observou que do outro lado da rua um Styx falava com um homem robusto de cabelo branco e duro e costeletas compridas, vestido num casaco marrom brilhante, com um lenço vermelho e encardido enrolado no pescoço grosso. Enquanto ele observava, o Styx assentiu, virou-se e se afastou.
— Esse Styx anda caçando Tam há um bom tempo — sussurrou Cal a Will.
— Quem é ele? — perguntou Will.
— Ninguém sabe seu nome, mas nós chamamos de Mosca, porque dizem que é difícil se livrar dele. Está envolvido numa vingança pessoal para derrubar o tio Tam.
Will olhou a figura do Mosca se dissolver nas sombras.
— Ele tem raiva de sua família desde que sua mãe deu uma rasteira nos Pescoços Brancos e foi para a Crosta — disse Imago a Will Cal.
— E eu vou jurar que ele acabou com meu pai até o dia de minha morte — disse Tam, a voz uniforme e estranhamente desprovida de emoção. — A verdade é que ele o matou... aquilo não foi acidente.
Imago sacudiu a cabeça devagar.
— Foi uma coisa horrível — concordou ele. — Uma coisa horrível.
— E daí que ele esteja maquinando com aquela escória ali? — disse Tam, franzindo o cenho ao se virar para Imago.
— Com quem ele estava falando? — perguntou Will, olhando o outro homem que agora atravessava a rua, seguindo para a multidão na calçada da taverna.
— Não olhe para ele... esse é Heraldo Walsh. Um bandido... sujeitinho horrível — alertou Cal.
— Um ladrão, o mais baixo entre os inferiores — grunhiu Tam.
— Mas então o que ele estava falando com um Styx? — disse Will, totalmente confuso.
— Uma questão complexa — murmurou Tam. — Os Styx são um bando diabólico. Um cinto vira cobra com eles. — Ele se virou para Will. — Escute, talvez eu possa ajudá-lo com Chester, mas precisa me prometer uma coisa — cochichou ele.
— O que é?
— Se você for pego, jamais implicará Cal, a mim ou a qualquer um de nós. Nossa vida e nossas famílias estão aqui e, quer gostemos disso ou não, temos que ficar neste lugar com os Pescoços Brancos... os Styx. Este é nosso quinhão. E vou repetir: eles jamais descansarão se você cruzar o caminho deles... vão fazer tudo o que puderem para pegá-lo... — De repente, Tam se interrompeu.
Will viu o alarme nos olhos de Cal. Ele girou o corpo. Heraldo Walsh estava parado a menos de dois metros. E, atrás dele, um bando de bêbados se separara com temor para deixar passar uma falange de colonos de aparência brutal. Eram claramente a gangue de Walsh — Will viu o ódio feroz em seus rostos. Seu sangue gelou. Tam de imediato se colocou ao lado de Will.
— O que você quer, Walsh? — disse Tam, os olhos como fendas e os punhos cerrados.
— Ah, meu velho amigo Tamfoolery — disse Heraldo Walsh com um sorriso cruel e desdentado. — Só queria ver o garoto da Crosta com meus próprios olhos.
Will quis que o chão se abrisse e o engolisse.
— Então, você é do tipo de escória que sufoca nossos canais de ar e polui nossas casas com seu esgoto imundo. Minha filha morreu por culpa de sua espécie. — Ele deu um passo para mais perto de Will, erguendo a mão de forma ameaçadora, como se estivesse prestes a agarrar o menino petrificado. — Venha cá, seu lixo fedorento!
Will se acovardou. Seu primeiro impulso foi correr, mas ele sabia que o tio não ia deixar que lhe acontecesse alguma coisa.
— Já basta, Walsh. — Tam deu um passo para o homem, para impedir sua aproximação.
— Está confraternizando com os ímpios, Macaulay — gritou Walsh, os olhos fixos na cara de Will.
— E o que você sabe de Deus? — retorquiu Tam, colocando-se total-mente na frente de Will, para protegê-lo. — Agora, saia daqui! Ele é da família!
Mas Heraldo era como um cachorro com um osso — não estava disposto a largar. Atrás dele, seus acólitos o incitavam e xingavam.
— Chama a isto de família? — Ele apontou um dedo sujo de terra para Will. — O vira-lata de Sarah Jerome?
Nisto vários de seus homens soltaram uivos e gritaram.
— Ele é a cria bastarda de uma vagabunda traidora que fugiu para o sol — disse Heraldo.
— Já basta — Tam sibilou entre dentes. Ele atirou o que restava da cerveja, atingindo-o em cheio na cara, ensopando com o líquido cinza aguado o cabelo e as costeletas do homem. — Ninguém insulta minha família, Walsh. Prepare-se para a luta. — Tam fechou a cara.
A comitiva de Heraldo Walsh começou a entoar “Briga, briga, briga” e logo os gritos encheram o ar à medida que todos na calçada se juntaram a eles. Outros vieram correndo da porta da taverna para ver do que se tratava aquela comoção.
— O que está havendo? — perguntou Will a Cal, completamente apavorado enquanto a multidão enorme os cercava. Bem no meio da plebe fechada e excitada, Tam se postava resoluto diante do Heraldo Walsh gotejante, presos em uma encarada colérica.
— Uma briga de socos — disse Cal.
O proprietário do lugar, um homem atarracado de avental azul, com uma cara vermelha e suarenta, passou pelas portas da taverna e se enfiou pela multidão até chegar aos dois homens. Colocou-se entre Tam e Heraldo Walsh e se ajoelhou para fixar algemas nos tornozelos dos dois. Quando eles deram um passo para trás, Will viu que as algemas eram presas por uma corrente enferrujada, e assim os dois lutadores estavam unidos.
Então, o proprietário pegou um pedaço de giz no bolso do avental. Traçou uma linha no chão no meio dos dois homens.
— Conhecem as regras — trovejou a voz melodramaticamente, mais para a multidão do que para os dois lutadores. — Acima do cinto, sem armas, sem morder nem atingir os olhos. Terminará com um nocaute ou a morte.
— Morte?— cochichou Will trêmulo a Cal, que assentiu sombriamente.
Depois o proprietário empurrou todos para trás até que se formasse um ringue de boxe humano. Não foi uma tarefa fácil, uma vez que as pessoas se acotovelavam e competiam para ver os dois homens.
— Coloquem-se em suas marcas — disse o homem em voz alta. Tam e Heraldo Walsh se posicionaram dos dois lados da linha de giz. O proprietário estendeu os braços para segurá-los. Soltou os lutadores com um grito de “Comecem!” e se retirou rapidamente.
Numa tentativa de tirar o equilíbrio de seu oponente, Walsh de imediato lançou o pé para trás e toda a corrente — de mais ou menos dois metros — ficou retesada, puxando a perna de Tam para a frente.
Mas Tam estava preparado para a manobra e usou o impulso em proveito próprio. Pulou para Walsh, o punho direito enorme voando na cara do homem mais baixo. O golpe raspou no queixo de Walsh, arrancando da multidão um grito sufocado. Tam continuou com uma combinação rápida de golpes, mas seu oponente se esquivava com aparente facilidade, abaixando-se e mergulhando como um coelho demente, enquanto a corrente entre eles matraqueava alto no chão em meio aos gritos e berros.
— Por Deus, esse aí é rápido — observou Joe Waites.
— Mas ele não tem o alcance de Tam, não é? — argumentou Jesse Shingles.
E então Heraldo Walsh, agora agachado, lançou-se sob a guarda de Tam e mandou um murro em seu queixo, um uppercut rápido que chocalhou a cabeça de Tam. O sangue jorrou de sua boca, mas ele não hesitou em retaliar, descendo o punho no alto do crânio de Walsh.
— O bate-estaca! — disse Joe animado e depois gritou: — Vai, Tam! Vai, beleza!
Os joelhos de Heraldo Walsh se dobraram e ele cambaleou para trás, cuspindo de raiva, voltando imediatamente com uma saraivada de murros frenéticos, atingindo Tam em volta da boca. Tam recuou ao máximo que os limites da corrente permitiam, chocando-se com a multidão atrás dele. Enquanto as pessoas davam um passo para trás a fim de que os dois lutadores tivessem mais espaço, Walsh o perseguia. Tam usou o tempo para se recuperar e refazer a guarda. À medida que Walsh se aproximava com os punhos socando o ar, Tam se abaixou e partiu para o oponente numa combinação de golpes esmagadores na costela e na barriga. O barulho das pancadas surdas, como fardos de feno sendo atirados no chão, podia ser ouvido por sobre os gritos e zombarias dos espectadores.
— Ele o está amaciando — disse Cal alegremente.
Escaramuças esporádicas irrompiam em meio à multidão enquanto as discussões multiplicavam-se entre os torcedores dos dois combatentes. De onde estava, Will percebeu que cabeças subiam e desciam, punhos se agitavam e canecos voavam, a cerveja espirrando para todo lado. Ele também percebeu que o dinheiro trocava de mãos, enquanto as apostas eram feitas febrilmente — as pessoas estendiam um, dois ou três dedos e trocavam moedas. O clima era carnavalesco.
De repente, a multidão soltou um “Ooooh!” grave quando, sem aviso, Heraldo Walsh meteu um poderoso gancho de direita no nariz de Tam. Fez-se um silêncio dramático na gritaria e a multidão o viu cair sobre um joelho, a corrente se esticando entre os dois.
— Isso não é bom — disse Imago, preocupado.
— Vamos, Tam! — gritou Cal com vontade. — Macaulay, Macaulay, Macaulay... — berrou ele, e Will o acompanhou.
Tam continuava caído. Cal e Will podiam ver o sangue escorrendo de seu rosto e pingando nos paralelepípedos da rua. Depois, Tam olhou para eles e piscou maliciosamente.
— O cachorro velho! — disse Imago em voz baixa. — Lá vem ele.
E sem dúvida, enquanto Heraldo Walsh pairava acima dele, Tam saltou com a graça e a velocidade de um jaguar, metendo um uppercut alarmante que esmagou o queixo de Walsh, provocando um choque horripilante em seus dentes. Heraldo Walsh cambaleou para trás e Tam estava em cima dele, esmurrando-o com uma precisão mortal, golpeando o rosto do homem mais baixo com tal rapidez e força que ele não teve tempo de preparar nenhuma forma de defesa.
Uma coisa coberta de saliva e sangue saiu da boca de Heraldo Walsh e caiu nos paralelepípedos. Chocado, Will viu que era grande parte de um dente quebrado. Mãos se estenderam no ringue numa tentativa de pegá-lo. Um homem de chapéu de feltro devorado por traças foi mais rápido, arrebatando-o e desaparecendo na multidão atrás dele.
— Caçadores de suvenir — disse Cal. — Demônios!
Will olhou no exato momento em que Tam se aproximava de seu oponente, que agora era erguido por alguns seguidores, exausto e arfando. Cuspindo sangue, o olho esquerdo inchado e fechado, Heraldo Walsh foi empurrado para a frente bem a tempo de ver o punho de Tam dar um último golpe esmagador.
A cabeça do homem voou para trás enquanto ele caía na multidão, que desta vez se separou, vendo-o fazer uma dança lenta por alguns momentos de agonia, as pernas tortas como de um bêbado. Depois, ele simplesmente se curvou no chão como uma boneca de trapos molhada e a turba caiu em silêncio.
Tam estava curvando para a frente, os nós dos dedos esfolados pousados nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. O proprietário se aproximou e cutucou a cabeça de Heraldo Walsh com a bota. Ele não se mexia.
— Tam Macaulay! — gritou o homem para a turba silenciosa, que de repente explodiu num rugido que encheu a caverna e deve ter sacudido as janelas do outro lado dos Cortiços.
As algemas de Tam foram retiradas e seus amigos correram para ele e o ajudaram a ir até um banco, onde ele desabou sentado, sentindo o queixo enquanto os dois garotos assumiam os lugares a seu lado.
— O canalha baixinho era mais rápido do que eu pensava disse ele, olhando os nós dos dedos ao flexioná-los dolorosamente. Ele recebeu uma caneca de alguém, que lhe deu um tapinha nas costas e desapareceu na taverna.
— O Mosca está decepcionado — disse Jesse e todos se viraram, vendo o Styx no final da rua, afastando-se de costas, batendo uns óculos peculiares nas coxas ao andar.
— Mas conseguiu o que queria — disse Tam com desânimo. — Correrá por aí que eu me meti em outra briga.
— Não importa — disse Jesse Shingles. — Você estava coberto de razão. Todos sabem que foi Walsh quem começou.
Tam olhou a figura lamentável e flácida de Heraldo Walsh, largada onde havia caído. Nenhum de seus companheiros se aproximou para tirá-lo da rua.
— De uma coisa eu tenho certeza... ele vai se sentir um jantar de Coprólito quando acordar — Imago riu enquanto um barman atirava um balde de água na figura e voltava rindo para dentro da taverna.
Tam assentiu pensativamente e tomou um longo gole de bebida, enxugando os lábios roxos com o antebraço.
— Se ele acordar — disse ele baixinho.
Capítulo Vinte e Seis
O quarto de Rebecca se encheu do estrondo do trânsito da manhã de segunda, os carros buzinando impacientes nas ruas treze andares abaixo. Uma leve brisa agitava as cortinas. Ela torceu o nariz com desdém ao sentir o fedor dos cigarros que a tia Jean fumara sem parar na noite anterior. Embora a porta do quarto estivesse bem fechada, a fumaça se intrometia por cada fresta, como uma névoa amarelada e insidiosa procurando por novos cantos para manchar.
Ela se levantou, tirou a camisola e fez a cama enquanto entoava os primeiros versos de “You Are My Sunshine”. Cantarolando em lá-lá-lás vagos pelo resto da música, ela arrumou com cuidado um vestido preto e uma blusa branca no alto do edredom.
Rebecca foi até a porta e, colocando a mão na maçaneta, ficou completamente imóvel, como se um pensamento a impedisse. Virou-se lentamente e voltou até a cama. Seus olhos se iluminaram ao ver duas fotografias em porta-retratos prateados na mesa ao lado.
Pegando-os nas mãos, ela se sentou, olhando de um para outro porta-retrato. Em um deles, havia uma foto meio fora de foco mostrando Will inclinado sobre uma pá. No outro, os jovens dr. e sra. Burrows sentavam-se em espreguiçadeiras listradas numa praia desconhecida. Na foto, a sra. Burrows olhava um sorvete enorme, enquanto o dr. Burrows parecia tentar enxotar uma mosca com a mão borrada.
Todos tinham tomado caminhos distintos — a família se dividira. Será que eles pensavam seriamente que ela ia ficar ali para servir de babá da tia Jean, alguém ainda mais preguiçosa e exigente do que a sra. Burrows?
— Não — disse Rebecca em voz alta. — Para mim, acabou. — Um sorrisinho brincou momentaneamente em seu rosto. Ela olhou as fotos uma última vez e soltou um longo suspiro.
— Objetos de cena — disse ela, e as atirou com tanta veemência que bateram no rodapé desbotado com um tinido de vidro se quebrando.
Vinte minutos depois, ela estava vestida e pronta para sair. Colocou as malinhas ao lado da porta da frente e foi até a cozinha. Numa gaveta ao lado da pia, estava o “esconderijo de cigarros” da tia Jean. Rebecca rasgou os cerca de dez maços e atirou o conteúdo na pia. Depois, partiu para as garrafas de vodca barata. Rebecca abriu as tampas e as esvaziou de novo na pia, todas as cinco garrafas, ensopando os cigarros.
Por fim, ela pegou a caixa de fósforos da cozinha, ao lado do fogão, e a abriu. Tirando um único fósforo, ela o riscou e acendeu uma folha amassada de papel toalha.
Recuou e atirou a bola de fogo na pia. Os cigarros e o álcool arderam com um silvo satisfatório, as chamas saltando para as torneiras de plástico cromado e os ladrilhos baratos e rachados de estampa floral atrás delas. Rebecca não ficou para saborear a cena. A porta da frente bateu e ela e suas malinhas se foram. Com o som do alarme de incêndio pelas costas, ela foi para o patamar e desceu a escada.
Desde que o amigo fora raptado, Chester já passara do ponto do desespero na permanente noite do Cárcere.
— Urh. Dois. Três... — Ele tentou esticar os braços para completar as flexões, parte da rotina de treinamento diário que começara na prisão.
— Trê... — Ele respirou fundo e tensionou os braços sem nenhum entusiasmo.
— Trê... — Ele soltou o ar superficialmente e caiu derrotado, a cara pousando na sujeira invisível no piso de pedra. Chester se virou devagar e se sentou, olhando a janelinha de observação na porta para se certificar de que não estava sendo vigiado enquanto unia as mãos. Querido Deus...
Para Chester, rezar pertencia aos silêncios cheios de tosse constrangidas das reuniões da escola... algo que vinha depois dos hinos mal cantados que, para alegria de seus colegas risonhos, alguns meninos temperavam com letras obscenas.
Não, só os nerds rezavam com sinceridade.
...por favor, mande alguém...
Ele apertou as mãos com mais força, sem sentir nenhum constrangimento. O que mais podia fazer? Lembrou-se do tio-avô, que um dia apareceu no quarto de hóspedes de sua casa. A mãe puxara Chester de lado e lhe dissera que o homenzinho de peruca engraçada estava fazendo terapia de câncer em um hospital de Londres e, embora Chester nunca o tivesse visto antes, ela disse que era da “família” e que isso era importante.
Chester imaginou o homem, com seu jornal Racing Post e o rude “Não quero comer essa porcaria estranha”, quando ele recebeu um prato perfeitamente bom de espaguete. Ele se lembrou da tosse áspera que pontuava os numerosos “rolinhos” que ele ainda insistia em fumar, deixando a mãe de Chester exasperada.
Na segunda semana de viagens de carro ao hospital, o homenzinho foi ficando mais fraco e mais retraído, como uma folha amarelando num galho, até que não falava de “viver no Norte” nem tentava tomar o chá. Chester ouvira, mas sem entender o motivo, o homenzinho gritar para Deus no quarto de hóspedes, numa horrível respiração ofegante, naqueles dia antes de morrer. Mas agora ele entendia.
...me ajude, por favor... por favor...
Chester sentia-se solitário e abandonado e... e por que, ah, por que ele teve que acompanhar Will nessa excursão ridícula? Por que não ficou em casa? Ele podia estar lá agora, aquecido e seguro, mas não estava, e tinha mesmo ido com Will... e agora não havia nada que pudesse fazer, a não ser marcar a passagem dos dias pelas duas tigelas deprimentemente iguais de papa que chegavam a intervalos regulares e os períodos intermitentes de sono insatisfatório. Ele agora se acostumara ao zumbido contínuo que invadia sua cela — o Segundo Oficial lhe disse que se devia à maquinaria nas “Estações de Ventilação”. Ele na verdade começava a achá-lo reconfortante.
Ultimamente, o Segundo Oficial vinha amolecendo um pouco o tratamento que dava a Chester e de vez em quando se dignava a responder a suas perguntas. Era quase como se não importasse mais se o homem mantinha ou não os procedimentos oficiais, o que deixou em Chester a sensação medonha de que podia ficar ali para sempre ou, por outro lado, que alguma coisa estava para acontecer; que as coisas estavam chegando a um ponto crítico — e não para melhor, segundo suspeitava.
Esta suspeita foi ainda mais intensificada quando o Segundo Oficial abriu a porta e ordenou que Chester se limpasse, dando-lhe um balde de água escura e uma esponja. Apesar de seus temores, Chester ficou grato pela oportunidade de se lavar, embora tenha doído terrivelmente devido a seu eczema, que grassava como nunca. Antigamente, se limitava aos braços, só muito de vez em quando espalhando-se por seu rosto, mas agora tinha irrompido em toda parte, até que parecia que cada centímetro de seu corpo estava áspero e escamoso. O Segundo Oficial também lhe atirara algumas roupas para que ele vestisse, inclusive umas calças enormes que pareciam ter sido feitas de aniagem e lhe deram ainda mais coceira, como se isso fosse possível.
Além disso, o tempo se arrastava. Chester perdera a noção do tempo em que estava sozinho no Cárcere; podia ser há um mês, mas ele não tinha certeza.
A certa altura, ele ficou muito animado quando descobriu que, sondando delicadamente com a ponta dos dedos, pôde distinguir letras na pedra de uma das paredes da cela. Havia iniciais e nomes, alguns com números que podiam ser datas. E, na base da parede, alguém cinzelara em letras maiúsculas: EU MORRI AOS POUCOS AQUI. Depois de descobrir isso, Chester não teve vontade de ler mais nada.
Ele também descobriu que, se ficasse na ponta dos pés na saliência revestida de chumbo, podia alcançar as barras de uma janelinha estreita no alto da parede. Segurando-as, ele podia se içar para cima e ver o quintal da cozinha descuidada da cadeia. Para além dele, havia um trecho de rua que levava a um túnel, iluminado por alguns postes com os globos sempre acesos. Chester olhava implacavelmente a rua no ponto em que desaparecia no túnel, na esperança aflita de que talvez, só talvez, pudesse ver o amigo, Will, voltando para salvá-lo. Mas Will não vinha nunca e Chester ficava pendurado ali, esperando e rezando com fervor, enquanto os nós dos dedos ficavam brancos da tensão e até que os braços cediam e ele caía de costas na cela, nas sombras, de volta ao desespero.
Capítulo Vinte e Sete
– Acorde, acorde!
Will foi rudemente despertado de um sono profundo e sem sonhos por Cal gritando e sacudindo seu ombro sem piedade.
A cabeça de Will latejou melancolicamente quando ele se sentou na cama estreita. Ele se sentia bastante fraco.
— Levante-se, Will, temos obrigações.
Ele não fazia idéia de que horas eram, mas tinha certeza de que ainda era muito cedo. Ele arrotou e, ao sentir o gosto da cerveja da noite anterior azedando a boca, gemeu e voltou a se deitar na cama estreita.
— Eu disse levante-se!
— Tenho que fazer isso? — protestou Will.
— O sr. Tonypandy está esperando e ele não é um homem paciente.
Como é que vim parar aqui? De olhos bem fechados, Will ficou deitado imóvel, ansiando por voltar a dormir. Parecia-lhe exatamente o primeiro dia de aula de novo, tal era a sensação pavorosa que o inundava. Ele não fazia absolutamente nenhuma idéia do que tinham reservado para ele e não estava com vontade de descobrir.
— Will! — gritou Cal.
— Tá bom, tudo bem. — Com uma resignação nauseante, ele se levantou, vestiu-se e seguiu Cal para o térreo, onde estava à soleira da porta um homem baixo e troncudo de expressão severa. Ele olhou para Will com um ar de franca repulsa antes de dar as costas a ele.
— Pegue, vista isso rápido. — Cal lhe passou um fardo preto e pesado. Will o abriu e lutou com o que só podia ser descrito como um oleado que não cabia nele, desagradavelmente apertado nas axilas e em volta da virilha. Ele se olhou e depois para Cal, que vestia a mesma roupa.
— Estamos ridículos — disse ele.
— Vai precisar dela aonde você vai — respondeu Cal severamente.
Will se apresentou ao sr. Tonypandy, que não pronunciou uma palavra sequer. Por um instante, ele olhou inexpressivamente para Will, depois, mexeu a cabeça para indicar que devia segui-lo.
Na rua, Cal partiu numa direção totalmente diferente. Embora ele também fosse de um grupo de trabalho, era em outro quadrante da Caverna Sul e Will foi tomado de uma agitação por não acompanhá-lo. Embora às vezes Will achasse o irmão meio cansativo, Cal era sua pedra de toque, seu guardião neste lugar incompreensível com suas práticas primitivas. Sentia-se terrivelmente vulnerável sem Cal a seu lado.
Seguindo sem nenhum entusiasmo, Will olhava de vez em quando para o sr. Tonypandy enquanto ele andava devagar por uma ladeira acentuada, a perna esquerda erguendo-se instável em sua órbita e o pé batendo nas pedras do calçamento com uma pancada suave a cada passo. Praticamente tão largo quanto alto, ele vestia o peculiar chapéu canelado preto que era quase todo puxado para baixo, quase nas sobrancelhas. Parecia ser feito de lã, mas num exame mais atento, era tecido de um material fibroso, algo parecido com fibra de coco. O pescoço curto era da largura da cabeça e de repente ocorreu a Will que, detrás, toda a coisa parecia um polegar gigante apontando para fora de um sobretudo.
Enquanto eles avançavam pela rua, outros colonos apareceram atrás até que a tropa tinha uma dezena de pessoas. Eram em grande parte jovens, entre os dez e os quinze anos, pelos cálculos de Will. Ele viu que muitos portavam pás, ao passo que alguns tinham ferramentas estranhas de cabo comprido meio parecidas com picaretas, com uma ponta afiada de um lado, mas uma concha comprida e curva do outro. Pelo desgaste do cabo revestido de couro e o estado do ferro, Will podia ver que as ferramentas foram muito utilizadas.
A curiosidade o dominou, ele se inclinou para um dos meninos que andavam atrás dele e lhe perguntou em voz baixa:
— Com licença, o que é isso que tem aí?
O menino virou-se com cautela para ele e murmurou:
— É um cortador de piche, é claro.
— Um cortador de piche — repetiu Will. — Hã, obrigado — acrescentou ele enquanto o menino reduzia o passo de propósito, ficando para trás de Will. A esta altura, sentiu-se mais sozinho do que podia se lembrar e de repente foi tomado pelo desejo mais forte possível de se virar e voltar para a casa de Jerome. Mas ele sabia que não tinha alternativa a não ser fazer o que lhe mandassem neste lugar. Ele tinha que obedecer.
Por fim, eles entraram num túnel, o bater das botas ecoando ao redor. As paredes tinham veios diagonais de rocha preta e brilhante, como estratos de obsidiana ou até, ao olhar mais de perto, carvão polido. O que é que eles iam fazer? A cabeça de Will se encheu de imagens de mineradores nus até a cintura, agachando-se pelas suturas estreitas e golpeando o carvão negro e poeirento. Sua mente girou de apreensão.
Depois de alguns minutos, eles entraram em outra caverna, menor do que a que acabaram de deixar. A primeira coisa que Will percebeu foi que o ar ali era diferente; a umidade aumentara ao ponto de ele sentir a água se acumulando no rosto e misturando-se com o suor. Então, ele percebeu que as paredes da caverna eram escoradas por enormes lajes de calcário. Cal lhe dissera que a Colônia era composta de uma série interligada de câmaras, algumas de formação natural e outras como esta, feita pelo homem, com paredes parcialmente reforçadas.
— Meu Deus, espero que papai tenha visto isso! — disse Will baixinho, ansiando para parar e saborear os arredores, talvez até fazer um ou dois esboços para registrar o que viu. Mas ele teve que se contentar em apreender o máximo que podia enquanto o grupo seguia rapidamente.
Havia poucas construções nesta caverna, o que lhe dava uma aparência quase rural e, um pouco mais adiante, eles andaram por uns celeiros de vigas de carvalho e casas térreas que pareciam pequenos bangalôs, algumas destacadas mas a maioria construída nas paredes. Quanto aos moradores da caverna, ele só viu algumas pessoas portando volumosas bolsas de lona nas costas ou empurrando carrinhos de mão lotados.
O grupo seguiu o sr. Tonypandy, que virou a rua e entrou em um fosso, cujo fundo estava cheio de argila molhada. Escorregadia e traiçoeira, ela grudava nas botas, estorvando seu progresso enquanto eles teciam seu caminho por uma rota sinuosa. Logo a trincheira se abriu em uma cratera de bom tamanho na base da parede da caverna e o grupo de trabalhadores parou ao lado de dois prédios toscos de pedra com telhados retos. Os garotos pareciam saber que deviam simplesmente esperar, encostando as pás e cortadores de piche enquanto o sr. Tonypandy começava uma discussão animada com dois homens mais velhos que saíram de uma das construções. Os garotos do grupo brincavam e conversavam ruidosamente, às vezes lançando olhares de banda demorados para Will, que ficou separado deles.
Depois, o sr. Tonypandy foi embora mancando para a rua e um dos homens mais velhos gritou para Will.
— Você vem comigo, Jerome. Vá para as cabanas.
O homem tinha uma cicatriz vermelha no formato de crescente lunar na cara. Começava pouco abaixo da boca e subia pelo olho esquerdo, passando pela testa, dividindo o cabelo branco do homem e terminando em algum lugar atrás da cabeça. Mas, para Will, o aspecto mais perturbador era o olho do homem, permanentemente lacrimejando e coberto de uma névoa mosqueada. A pálpebra sobre ele era tão dilacerada que a cada vez que o homem piscava, parecia um limpador de pára-brisa com defeito lutando para funcionar.
— Lá! Lá! — ladrou ele, já que Will não conseguiu entender a ordem.
— Desculpe — respondeu ele rapidamente. Depois ele e outros dois jovens seguiram o homem da cicatriz até à construção mais próxima.
O interior era abafado e, a não ser por algum equipamento no canto, parecia estar vazio. Eles pararam ociosamente enquanto o homem da cicatriz chutava o chão como se procurasse por alguma coisa que perdera. Começou a praguejar baixinho até que a bota enfim se prendeu em alguma coisa sólida. Era um aro de metal. Ele o puxou com as duas mãos e ouviu-se um estalo alto, uma placa de aço se ergueu e revelou uma abertura de um metro quadrado.
— Muito bem, vamos descer.
Um por um, eles desceram em fila uma escada molhada e enferrujada e, depois que todos chegaram ao fundo, o homem da cicatriz pegou a lanterna no cinto e lançou sua luz pelo túnel revestido de tijolos. Não era alto o bastante para se ficar de pé e, a julgar pelo estado da alvenaria, claramente estava erodido e precisava que a argamassa fosse refeita, onde esfarelara como giz. Will imaginou que devia ter sido usado décadas antes, se não séculos.
Havia uns dez centímetros de água escurecida no fundo do túnel e logo as botas de Will mergulharam ao seguirem atrás dos outros. Eles chapinharam por mais dez minutos, quando o homem da cicatriz parou e se virou para eles de novo.
— Aqui embaixo... — falou o homem com condescendência a Will, como se estivesse explicando uma coisa a uma criancinha... são perfurações. Nós retiramos o sedimento... nós as desbloqueamos. Sim?
O homem da cicatriz girou a lanterna e iluminou o chão do túnel, entupido de pequenas ilhas de agregados de sílex e lascas de calcário elevando-se da água. Ele tirou vários rolos de corda do ombro e Will observou quando cada menino pegou uma ponta e a amarrou com firmeza na cintura. O homem da cicatriz amarrou a outra ponta de cada corda em si mesmo, de modo que eles estavam ligados como um grupo de alpinistas.
— Garoto da Crosta — grunhiu o homem da cicatriz —, amarramos a corda em nós... nós amarramos bem. — Will não se atreveu a perguntar por que enquanto pegava a corda e a passava na cintura, dando o melhor nó que pôde. Ao puxar para testá-la, o homem lhe estendeu um cortador de piche amassado.
— Agora nós cavamos.
Os dois meninos começaram a golpear o chão do túnel e Will entendeu que devia fazer o mesmo. Sondando com a ferramenta desconhecida, ele andou pelo revestimento de tijolos sob a água suja até que chegou a um trecho mais macio de sedimento e pedra compactados. Ele hesitou, olhando os outros meninos para se certificar de estar agindo corretamente.
— Nós ficamos cavando, não paramos — gritou o homem da cicatriz ao lançar a luz da lanterna em Will, que de imediato começou a cavar. Foi difícil, tanto devido ao confinamento e porque a ferramenta que ele usava, o cortador de piche, era desconhecida. E a água não facilitou a tarefa; por mais rápido que ele trabalhasse, ela continuava voltando ao buraco cada vez mais fundo após cada golpe.
Logo Will pegou o jeito da nova ferramenta e dominou sua técnica. Agora, com um bom ritmo, era ótimo ficar cavando sem parar. Todas as suas preocupações pareceram ser esquecidas, mesmo que só por pouco tempo, enquanto ele atirava para fora do buraco uma carga após outra de pedra e terra ensopadas. Com a água escorrendo após cada levada, ele logo estava até a coxa na perfuração, e os outros meninos tiveram de trabalhar furiosamente para acompanhado. Depois, com um baque de sacudir os ossos, o cortador de piche de Will se chocou em alguma coisa inamovível.
— Nós cavamos em volta! — rebateu o homem da cicatriz.
Com o suor escorrendo pela cara suja e ardendo os olhos, Will olhou o homem da cicatriz e depois a água que batia em seu oleado, tentando entender o motivo da tarefa. Ele sabia que estaria liquidado com o homem da cicatriz se perguntasse, mas sua curiosidade levava a melhor. Quando ia se voltar para fazer uma pergunta, houve um grito urgente, interrompido quase no momento em que começou.
— SEGURE! — gritou o homem da cicatriz.
Will se virou a tempo de ver um dos outros meninos sumir completamente com um gorgolejar alto, enquanto a água vertia para o que agora parecia um ralo enorme, do tamanho de um poço. A corda se retesou, cortando a cintura de Will e sacudindo com os movimentos desesperados do menino que caía. O homem da cicatriz se abaixou e meteu as botas no saibro e no entulho do chão do túnel. Will achou que ficaria pregado na beira de sua perfuração.
— Puxe seu corpo para cima! — gritou o homem da cicatriz na direção do buraco em redemoinho. Will olhou alarmado, até que viu dedos encardidos arrastando-se pela corda enquanto o menino se içava contra a correnteza. Quando se colocou de pé de novo, Will viu a expressão apavorada em seu rosto sujo de lama.
— Um buraco já foi. Agora o resto de vocês tem que continuar — disse o homem da cicatriz, recostando-se na parede de trás ao pegar um cachimbo e começar a limpar o fornilho com uma faca de bolso.
Will golpeou às cegas o sedimento muito compactado em torno do objeto entalado no buraco, até que a maior parte dele foi removida. Ele não sabia o que era mas, quando espetou a obstrução, sentiu-a esponjosa, como se fosse uma madeira encharcada de água. Ao impelir o calcanhar para baixo numa tentativa de afrouxá-la, houve um silvo súbito, ela se desalojou e a superfície por baixo de seus pés literalmente cedeu. Não havia nada que ele pudesse fazer, ele estava em queda livre, a água jorrando em volta dele com uma cascata de cascalho e lama. Seu corpo bateu nas laterais do buraco, o cabelo e o rosto encharcados e cobertos de saibro.
Ele se retorcia feito uma marionete quando a corda interrompeu sua queda. Em menos de um segundo, recuperou o bom-senso; calculou que tinha caído pelo menos seis metros, mas não fazia idéia do que estava abaixo dele na escuridão.
Agora é a minha chance, ocorreu-lhe num lampejo. Ele tateou desesperadamente por baixo do oleado, nos bolsos da calça, a mão se fechando no canivete.
...de fugir...
Ele olhou para baixo, a escuridão absoluta do desconhecido, calculando as probabilidades, a corda retesando enquanto os outros começavam a puxar.
...e papai está aqui embaixo... em algum lugar... A idéia passou por sua mente com a intensidade de uma placa de néon.
...aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo... Repetia, piscando com o zumbido maçante de uma descarga elétrica.
...água, estou ouvindo água...
— SUBA PELA CORDA, GAROTO! — ele ouviu o homem da cicatriz berrar de algum lugar acima. — SUBA PELA CORDA!
A mente de Will disparou enquanto ele tentava entender os sons abaixo; borrifos fracos e o gorgolejar de água em movimento eram audíveis por sobre os rangidos pendulares da corda grossa que mordia sua cintura, seu cabo salva-vidas de volta à Colônia.
...mas que profundidade terá?
Havia água embaixo, isto era certo, mas ele não sabia se era suficiente para amortecer a queda. Ele abriu o canivete e o apertou na corda, posicionando para cortá-la.
Sim... Não?
Se a água não fosse funda o suficiente, ele morreria da queda neste lugar lúgubre e solitário. Ele imaginou lascas dentadas de pedra, afiadas feito navalhas e letais, como num gibi... no quadro seguinte era seu corpo sem vida, empalado e quebrado enquanto seu sangue era bombeado para fora, misturando-se com a escuridão.
Mas ele se sentia imprudente e ousado. Passou a lâmina na corda e a primeira trança de fibras se separou.
Uma fuga audaz! passou por sua mente, ainda mais brilhante do que antes, como os créditos de uma aventura de Hollywood. As palavras traziam orgulho e coragem, mas a imagem da cara de Chester, rindo e feliz, estilhaçou-a em um milhão de fragmentos. Will estremeceu de frio, o corpo ensopado e colado de lama.
A gritaria abafada do homem da cicatriz mais uma vez vagou do alto, indistinta e confusa como um tirolês cantando por um cano, arrancando Will de seus pensamentos. Ele sabia que devia começar a se içar para cima, voltando pela corda, mas não conseguia se decidir a fazer isso. Então ele suspirou e toda sua coragem e bravata desapareceram. Em seu lugar havia uma certeza fria de que, se não fosse agora, haveria outra oportunidade de fugir e ele a aproveitaria da próxima vez. Ele guardou o canivete, girou o corpo para cima e começou a subida laboriosa para junto dos outros.
Sete longas horas depois, ele tinha perdido a conta dos buracos que limparam enquanto avançavam sem parar pelo túnel. Por fim, olhando o relógio de bolso sob a luz da lanterna, o homem da cicatriz disse-lhes que o dia de trabalho havia acabado. Eles marcharam de volta para a escada e Will partiu sozinho na jornada para casa, as mãos e as costas doendo terrivelmente.
Ao sair da trincheira e seguir lentamente pela rua, ele localizou uma roda de colonos na calçada de um prédio que tinha duas portas grandes, do tipo garagem. Eram cercados por uma barreira de engradados empilhados.
Enquanto um dos homens saía da reunião, Will ouviu uma risada aguda. Depois ele viu uma coisa que o fez piscar e esfregar os olhos. Um homem de blazer rosa-arroxeado e chapéu de palha saracoteava no meio do grupo.
— Não pode ser! Não! É sim! É o sr. Clarke Júnior! — disse ele em voz alta, a ninguém em particular.
— O quê? — veio uma voz de trás. Era um dos meninos que estivera trabalhando com Will no túnel. — Você o conhece?
— Sim! Mas... mas... o que é que ele está fazendo aqui? — Will ficou confuso ao pensar na loja dos Clarke na High Street e lutou com a aparição deslocada do sr. Clarke Júnior aqui embaixo, ainda dando pinotes com a roda de colonos atarracados. Enquanto olhava, Will observou que ele pegava coisas das caixas com floreios meio teatrais e as exibia à platéia, passando-as pela manga da camisa como um vendedor de relógios ladino antes de colocadas delicadamente numa mesa de armar. Depois as moedas caíam.
— Não me diga que ele está vendendo frutas! — disse Will.
— E verduras. — O menino olhou curioso para Will. — Os Clarke vêm negociando conosco há muito tempo...
— Meu Deus, o que é isso? — interrompeu-o Will, apontando uma figura estranha que entrara em seu campo de visão, vindo da sombra de uma pilha grande de caixas de frutas. Aparentemente ignorado, ele ficou do lado de fora do grupo de colonos e inspecionou um abacaxi como se fosse um artefato raro, enquanto o comércio continuava com os muitos gestos sr. Clarke Júnior.
O menino seguiu o dedo de Will até a figura parada, que parecia ser humana, com braços e pernas, mas era enfaixado numa espécie de traje de mergulho inchado, de uma cor de osso opaca. Era bulboso, como uma caricatura de um gordo, e a cabeça e o rosto eram completamente obscurecidos por uma espécie de capuz. Seus grandes óculos de proteção cintilaram ao pegar a luz de um poste. Parecia uma lesma com forma humana, ou melhor, um homem com forma de lesma.
— Maldição, você não sabe de nada? — O menino riu com um desdém indisfarçado da ignorância de Will. — É só um Coprólito.
Will franziu a testa.
— Ah, sim, um Coprólito.
— De lá de baixo — disse o menino, lançando os olhos ao chão enquanto andava. Will ficou para trás por um momento para ver o ser estranho, movimentava-se com tal lentidão que o lembrou das sanguessugas que habitavam o lodo no fundo do tanque de peixes da escola. Era uma cena improvável, o sr Clarke Júnior com seu paletó rosa vendendo seus víveres à multidão, ao passo que o Coprólito examinava um abacaxi nas entranhas da Terra.
Ele estava pensando se devia falar com o sr. Clarke Júnior quando viu dois policiais na beira da multidão. Will saiu rapidamente e tomou seu caminho, importunado por uma dúvida que colocou de lado todos os pensamentos: Se os Clarke sabiam da Colônia, quantos outros em Highfield estavam levando uma vida dupla?
Com o passar das semanas, Will foi designado a outros locais de trabalho em outras partes da Colônia. Isso lhe deu alguma noção do funcionamento desta cultura subterrânea e ele estava decidido a documentar o máximo que pudesse em seu diário. Os Styx ocupavam o topo da hierarquia e eram a própria lei, e a seguir vinha a pequena elite governante dos colonos, à qual o sr. Jerome tinha o privilégio de pertencer. Will não tinha idéia do que ele ou estes governantes realmente faziam e, ao indagar por mais detalhes, parecia que Cal também não sabia. E depois vinham os colonos comuns e por fim um estrato inferior de infelizes, que ou não podiam trabalhar ou se recusavam a isto e eram deixados de lado para apodrecer em guetos, o maior deles sendo os Cortiços.
Toda tarde, depois de Will ter escovado a terra e se livrado do suor usando as instalações básicas do suposto banheiro da casa dos Jerome, Cal o observava se sentar em sua cama e tomar notas meticulosas, acrescentando o ocasional esboço onde acha que era justificado. Talvez fosse de crianças trabalhando em um dos depósitos de lixo. Era uma cena e tanto: estes pequenos colonos, pouco maiores do que bebês, tão versados em varrer os montes de lixo, com o máximo cuidado para separar tudo em depósitos para processamento.
— Nada pode ser desperdiçado — disse-lhe Cal. — Sei disso porque costumava fazer o mesmo!
Ou podia ser uma imagem da fortaleza severa no canto mais distante da Caverna Sul, onde moravam os Styx, cercada por uma enorme paliçada de ferro. Este desenho fora de longe o maior desafio para Will, já que ele não teve a oportunidade de ver o lugar de perto. Com sentinelas patrulhando as ruas vizinhas, não era bom ser pego demonstrando interesse demais nela.
Cal não conseguia entender por que Will se esforçava tanto para escrever em seu diário. Ele importunava Will constantemente, perguntando-lhe que sentido tinha tudo aquilo. Will respondia que era algo que seu pai o ensinara a fazer sempre que encontrasse alguma coisa durante as escavações.
E lá estava ele de novo, seu pai. Dr. Burrows ainda era pai dele, no que dizia respeito a Will, e o sr. Jerome, mesmo que fosse o pai verdadeiro — embora ele ainda não estivesse plenamente convencido disso — ocupava um lugar secundário na estima de Will. E sua mãe enlouquecida da Crosta e a irmã Rebecca ainda eram sua família. No entanto, ele sentia tal afeto por Cal, o tio Tam e a vovó Macaulay que às vezes sua lealdade se agitava em sua cabeça com a ferocidade de um tornado arrolhado.
Enquanto dava os últimos toques em um desenho de uma casa da Colônia, sua mente vagou e ele voltou a devanear com a viagem do pai às Profundezas. Will estava ansioso para descobrir o que havia lá embaixo e sabia que um dia, em breve, ele também iria. Porém, toda vez que tentava imaginar o que o futuro lhe reservava, era puxado de volta à realidade amarga com um solavanco, aos apuros de seu amigo Chester, ainda confinado naquele Cárcere abissal.
Will parou de desenhar e esfregou os calos que descascavam nas palmas das mãos.
— Ferido? — perguntou Cal.
— Não está mais tão ruim — respondeu Will. Sua mente voltou ao local de trabalho do início daquele dia, limpando canais de pedra antes de drenar uma imensa fossa comunitária. Ele estremeceu. Foi a pior tarefa que teve até agora. Com os braços doloridos, ele reassumiu as anotações, mas sua concentração foi interrompida pelo gemido urgente de uma sirene, o som oco e sinistro enchendo toda a casa. Will se levantou, tentando situar de onde vinha.
— O Vento Negro! — Cal pulou da cama e correu para perto da janela. Will se juntou a ele e viu pessoas na rua correndo como loucas para todo lado, até que a rua ficou completamente deserta. Cal apontou animado, depois retirou a mão, olhando os pêlos que se eriçavam no braço devido à rápida formação de estática no ar.
— Lá vem ele! — Ele puxou a manga da camisa do irmão. — Eu adoro isso.
Mas nada pareceu acontecer. O gemido obsessivo da sirene continuou enquanto Will, sem saber o que procurar, olhou a rua vazia e não viu nada de extraordinário.
— Ali! Ali! — gritou Cal, olhando para o interior da caverna.
Will seguiu seu olhar, tentando distinguir o que era, mas parecia que havia alguma coisa errada com sua visão. Era como se seus olhos não estivessem focalizando direito.
E então ele entendeu o porquê.
Uma nuvem densa ondulava na rua como tinta se difundindo pela água, rolando, agitando e obscurecendo tudo em sua esteira. Ao olhar pela janela, Will pôde ver as luzes de rua tentando bravamente arder com um brilho ainda maior à medida que a névoa fuliginosa praticamente as eclipsava. Era como se ondas noturnas estivessem se fechando sobre as luzes submersas de um transatlântico condenado.
— O que é isso? — perguntou Will. Ele apertou o nariz no vidro para ter uma visão melhor da neblina escura que se espalhava rapidamente pelo resto da rua.
— É uma espécie de marola do Interior — disse-lhe Cal. — É chamado de Vento Levante. Vem das Profundezas inferiores... é meio como um arroto. — Ele riu.
— É perigosa?
— Não, só poeira e essas coisas, mas as pessoas acham que traz má sorte respirá-la. Dizem que contém germes. — Ele riu e adotou o tom monótono dos Styx. — Perniciosa para os que a encontram, ela cresta a carne. — Ele riu de novo. — Mas é ótima, não é?
Will olhou, petrificado. À medida que a rua abaixo sumia de vista, a janela ficou preta e ele sentiu uma pressão desagradável nas orelhas. Seu corpo parecia estar zumbindo e todos os pêlos ficaram de pé. Por vários minutos, a nuvem escura ondulou, enchendo o quarto do cheiro de ozônio queimado e de um silêncio ensurdecedor. Por fim ela começou a se afinar e as luzes da rua bruxulearam através do redemoinho de poeira como o sol irrompendo pelas nuvens, e ela se fora, deixando apenas manchas cinzentas e difusas pairando no ar, como se a cena tivesse sido varrida pelo pincel de um aquarelista.
— Agora olhe isso!
— Fogos de artifício? — perguntou Will, sem acreditar no que via.
— É uma tempestade de estática. Sempre vêm depois de um Levante — disse Cal, tremendo de empolgação. — Elas lhe dão uma chicotada danada se você estiver no caminho.
Will observou num silêncio pasmo enquanto uma horda de bolas de fogo girou das nuvens que se dispersavam em toda a rua. Algumas eram do tamanho de bolas de tênis, outras eram grandes como bolas de praia, todas chiando furiosamente enquanto centelhas brilhantes partiam de suas margens, como se uma gangue de delinqüentes estivesse criando alvoroço com rodas de Santa Catarina.
Os dois meninos ficaram hipnotizados quando, bem diante deles, uma bola de fogo do tamanho de um melão, a luz vibrante iluminando suas faces jovens e refletindo-se em seus olhos arregalados, de repente partiu numa espiral descendente, girando e girando, lançando faíscas ao mergulhar no chão, encolhendo ao tamanho de um ovo. Ao pairar pouco acima dos paralelepípedos, a bola de fogo moribunda pareceu cintilar com uma intensidade um pouco maior e, num piscar de olhos, apagou-se.
Will e Cal foram incapazes de se mexer, os vestígios dos últimos segundos ainda impressos em suas retinas em pequenos rastros de êxtase, como agulhas e alfinetes óticos.
Capítulo Vinte e Oito
Bem abaixo das ruas e casas da Colônia, uma figura solitária se mexia.
No começo, o vento fora uma brisa suave, mas rapidamente formou-se uma ventania apavorante que lançou saibro em seu rosto com a ferocidade de uma tempestade de areia. Ele colocou a camisa extra na cara e na boca à medida que ficava mais intensa, ameaçando derrubá-lo no chão. E a poeira era tão densa e impenetrável que ele não conseguiu enxergar as mãos diante de si.
Não havia nada a fazer além de esperar que passasse. Ele se deixou cair no chão e se enroscou numa bola, os olhos obstruídos e ardendo da poeira preta e fina. Ali, permaneceu, com o uivo melancólico explodindo em seus pensamentos até que, fraco de fome, caiu num torpor semi-adormecido.
Algum tempo depois, acordou estremecido e, sem saber quanto tempo ficou enrascado no chão do túnel, levantou a cabeça para dar uma olhada insegura. A escuridão estranha do vento se fora, exceto por algumas nuvens que ainda se demoravam ali. Tossindo e cuspindo, ele se sentou e sacudiu a poeira das roupas. Passou um lenço sujo nos olhos lacrimejantes e limpou as lentes dos óculos.
Depois, de quatro, dr. Burrows engatinhou, raspando o saibro seco, usando a luz de um globo luminoso para encontrar a pequena pilha de matéria orgânica que guardara para acender antes da tempestade de poeira. Enfim localizando-a, ele pegou algo que parecia uma folha enroscada de samambaia. Olhou-a com curiosidade — não fazia idéia do que era. Como tudo nos últimos oito quilômetros de túnel, era seca e friável como pergaminho antigo.
Ele estava ficando cada vez mais preocupado com o suprimento de água. Ao ser embarcado no Trem dos Mineradores, os colonos lhe providenciaram um cantil cheio, uma maleta de legumes desidratados, algumas tiras de carne e um pacote de sal. Ele podia racionar a comida, mas o problema definitivamente era a água; já fazia dois dias que não conseguia encontrar uma fonte de água fresca para encher o cantil e estava ficando perigosamente sem o que beber.
Depois de reorganizar a lenha, ele começou a bater duas lascas de sílex até que delas saltou uma faísca e uma chama pequena e bruxuleante tomou forma. Com a cabeça encostada no chão de saibro, ele soprou delicadamente a chama e a abanou com a mão, alimentando-a, até que o fogo pegou, banhando-o com seu brilho. Depois, ele se agachou ao lado do diário aberto, limpando a poeira das páginas, e reassumiu seus desenhos.
Que descoberta! Um círculo de pedras regulares, cada uma do tamanho de uma porta, com uma escrita estranha entalhada na face. Ele não reconheceu a língua, apesar de todos os anos de estudos. Era diferente de qualquer coisa que vira na vida. Sua mente disparava enquanto ele devaneava com o povo que escrevera aquelas palavras, que vivera bem abaixo da superfície da Terra, possivelmente por milhares de anos, e no entanto tinha sofisticação suficiente para construir este monumento subterrâneo. Pensando ter ouvido um barulho, de repente ele parou de desenhar e se sentou ereto. Controlando a respiração, ficou completamente imóvel, o coração martelando no peito, espiando a escuridão para além da iluminação do fogo. Mas não era nada, só o silêncio que a tudo impregnava e vinha sendo sua companhia desde o início da jornada.
— Está ficando nervoso, meu velho — disse ele, relaxando novamente. Ele se tranqüilizou com o som da própria voz nos confins da passagem de pedra. — É só o seu estômago novamente, seu tolo irritante — acrescentou, rindo alto.
Retirou a camisa da boca e do nariz. Seu rosto estava cortado e com hematomas, o cabelo embaraçado e uma barba desgrenhada pendia do queixo. As roupas estavam sujas e rasgadas em certos lugares. Ele parecia um eremita louco. Com o crepitar do fogo, pegou o diário e se concentrou mais uma vez no círculo de pedras.
— Isto é verdadeiramente excepcional... uma pequena Stonehenge. Que achado inacreditável! — exclamou ele, esquecendo-se completa e momentaneamente da fome e da sede que sentia. Seu rosto se animou e, feliz, continuou o desenho.
Em um dado momento, ele baixou o diário e o lápis, e se sentou imóvel por alguns segundos enquanto seus olhos assumiam uma expressão distante. Levantou-se e, pegando o globo luminoso, afastou-se do fogo até ficar fora do círculo de pedras. Começou a andar lentamente em volta dele. Ao fazer isso, segurou o globo ao lado do rosto como um microfone. Franziu lábios e baixou a voz um ou dois tons, tentando imitar um entrevistador de TV.
— Então, diga-me, dr. Burrows, recém-nomeado reitor de Estudos Subterrâneos, o que o prêmio Nobel significa para o senhor?
Andando agora mais rapidamente pelo círculo com um passo animado, sua voz voltou ao tom normal e ele passou o globo luminoso para o outro lado do rosto. Ele assumiu um jeito um tanto surpreso, com uma pantomima de hesitação.
— Ah, eu... eu... devo dizer que... foi verdadeiramente uma grande honra e, em princípio, senti que não era digno de seguir os passos destes grandes homens e mulheres... — Neste momento, os dedos dos pés bateram em um pedaço de pedra e ele girou às cegas, perdendo o equilíbrio por alguns passos. Recuperando a pose, ele recomeçou a andar, ao mesmo tempo que continuava com a resposta: — Os passos destes grandes homens e mulheres, esta sublime lista de vencedores que me precederam.
Ele passou o globo para o outro lado do rosto.
— Mas professor, as contribuições que o senhor fez a tantos campos... a medicina, a física, a química, a biologia, a geologia e, sobretudo, a arqueologia... são inestimáveis. O senhor é considerado um dos maiores eruditos vivos do planeta. O senhor pensou que chegaria a isso no dia em que começou o túnel em seu porão?
Dr. Burrows soltou um “arre” melodramático enquanto o globo mudava de lado mais uma vez.
— Bem, eu sabia que havia mais reservado a mim... muito mais do que minha carreira no museu em...
A voz do dr. Burrows falhou e ele estacou. Seu rosto murchou e se despiu de toda emoção. Ele pôs o globo no bolso, metendo-se nas sombras lançadas pelas pedras ao pensar em sua família e se perguntar como estavam se saindo sem ele. Sacudindo a cabeça enlameada, ele voltou ao círculo devagar e tombou ao lado do diário, encarando inexpressivamente as chamas bruxuleantes, que se tornavam mais borradas à medida que as observava. Por fim, ele tirou os óculos e esfregou as lágrimas dos olhos com as costas da mão.
— Preciso fazer isso — disse ele a si mesmo ao recolocar os óculos e mais uma vez tomar o lápis. — Eu preciso.
O fogo irradiava de entre as pedras do círculo, projetando raios móveis de luz suave no chão e nas paredes da passagem. No meio desta roda, totalmente absorto, a figura de pernas cruzadas murmurava ao apagar um erro no diário.
Neste momento, não pensava em ninguém no mundo; era um homem tão obcecado que nada mais importava, absolutamente nada.
Capítulo Vinte e Nove
Com o fogo crepitando na lareira, o sr. Jerome reclinou-se em uma das poltronas, lendo o jornal. De tempos em tempos, as páginas cerosas e pesadas teimavam em se agitar e ele dobrava os pulsos por reflexo para endireitá-las. Will não conseguiu distinguir nem uma única manchete de onde estava à mesa; a impressão maciça derramava-se no papel a tal ponto que parecia que um enxame de formigas tinha colocado os pés em tinta preta e pisado nas páginas.
Cal jogou outra carta e esperou pacientemente pela reação do irmão, mas para Will era impossível manter a concentração no jogo. Era a primeira vez que ficava no mesmo cômodo do sr. Jerome sem estar na extremidade receptora de olhares hostis ou de um silêncio ressentido. Isto em si representava um marco no relacionamento dos dois.
Houve um estrondo súbito quando a porta da frente se abriu e os três olharam.
— Cal, Will! — berrou o tio Tam do hall, abalando a cena de aparente beatitude doméstica. Ele se retesou ao ver o olhar de adaga do sr. Jerome, lançado da poltrona que ocupava.
— Ah, desculpe, eu...
— Pensei que tivéssemos nos entendido — grunhiu o sr. Jerome enquanto se levantava e dobrava o jornal sob o braço. — Você disse que não viria aqui... quando eu estivesse em casa. Ele passou rígido por Tam sem sequer olhar.
Tio Tam fez uma careta e se sentou ao lado de Will. Com um aceno de conspiração, ele indicou aos meninos para chegarem mais perto. Esperou até que os passos do sr. Jerome tivessem desaparecido na distância antes de falar.
— Chegou a hora — sussurrou Tam, pegando uma caixa de metal amassado de dentro do casaco. Ele abriu a tampa por uma ponta e os meninos observaram-no tirar um mapa esfarrapado e o colocar sobre as cartas na mesa, alisando os cantos para que ficasse plano. Depois, ele se virou para Will.
— Chester irá para o Desterro no final da tarde de amanhã — disse ele.
— Ah, meu Deus. — Will se sentou ereto como se tivesse tomado um choque elétrico. — É meio repentino, não é?
— Só descobri agora... está planejado para as seis — disse Tam. — Haverá uma boa multidão. Os Styx gostam de fazer um espetáculo com estas coisas. Eles acreditam que um sacrifício faz bem à alma.
Ele se voltou para o mapa, murmurando suavemente ao procurar na grade complexa de linhas, até que finalmente seu dedo parou em um quadradinho escuro. Depois ele olhou para Will como se tivesse acabado de se lembrar de uma coisa.
— Sabe, filho, não é difícil... conseguir que você saia, sozinho. Mas com Chester também, já é uma embrulhada muito diferente. É preciso mais reflexão, porém — ele parou e Will e Cal olharam em seus olhos —, eu matei a charada. Pode haver um jeito de escapar para a Crosta... através da Cidade Eterna.
Will ouviu Cal arfar, mas por mais que quisesse perguntar ao tio sobre este lugar, não parecia adequado enquanto Tam prosseguia. Ele passou a falar com Will do plano de fuga, traçando a rota no mapa para os garotos, que ouviam extasiados, absorvendo cada detalhe. Os túneis tinham nomes como Rua Watling, Grande Norte e Parque do Bispo. Will interrompeu o tio apenas uma vez com uma sugestão que, depois de pensar consideravelmente, Tam incorporou ao plano. Embora por fora estivesse controlado e pragmático, o garoto sentia a empolgação e o medo crescendo na boca do estômago.
— O problema com isto — Tam suspirou — é o desconhecido, são as variáveis, que não posso evitar. Se você der com algum obstáculo quando estiver lá fora, terá que improvisar... fazer o melhor que puder. — A esta altura, Will percebeu que parte da centelha havia desaparecido dos olhos de Tam, ele não estava com seu jeito normal e confiante.
Tam repassou o plano do início ao fim e, quando terminou, pegou uma coisa no bolso e entregou a Will.
— Aqui está uma cópia das orientações para depois que sair da Colônia. Se a pegarem com você, Deus nos livre, coma a maldita coisa.
Will abriu a cópia com cuidado. Era um pedaço de tecido, do tamanho de um lenço quando completamente aberto. A superfície era coberta de uma massa de linhas infinitesimais em tinta marrom, como um labirinto louco, cada uma delas representando um túnel diferente. Embora a rota de Will estivesse claramente marcada em vermelho, Tam explicou rapidamente a ele.
Tam observou Will dobrar o mapa de pano, depois falou em voz baixa.
— Isto tem que funcionar como um relógio. Você colocará toda a sua família no pior perigo se os Styx pensarem, mesmo que por um segundo, que meu dedo está nisso... e não vai se limitar mim; Cal, sua avó e seu pai ficarão na linha de fogo. — Ele pegou o braço de Will com força e o apertou para destacar a gravidade de seu alerta. — Mais uma coisa, quando estiver na Crosta, você e Chester terão de desaparecer. Não tive tempo de arrumar nada, então...
— E Sarah? — disse Will quando a idéia lhe ocorreu, embora o nome ainda parecesse meio estranho em seus lábios. — Minha mãe verdadeira? Ela não pode me ajudar?
Uma sugestão de sorriso apareceu no rosto de Tam.
— Estava mesmo me perguntando quando você ia pensar nisso — disse ele. O sorriso desapareceu e ele falou como se escolhesse as palavras com cuidado. — Se minha irmã ainda estiver viva, e ninguém tem certeza disso, ela estará bem e verdadeiramente escondida. — Ele olhou a palma da mão enquanto a esfregava com o polegar da outra. — Um mais um às vezes pode dar zero.
— O que quer dizer? — perguntou Will.
— Bem, se por milagre você por acaso encontrá-la, pode levar os Styx até ela. E então os dois acabarão como comida de vermes. — Ele ergueu a cabeça novamente e a sacudiu uma vez enquanto fitava Will com um olhar pensativo. — Não, eu sinto muito, mas você está por conta própria. Terá que correr muito e por um longo tempo, para o nosso bem, e não só o seu. Guarde minhas palavras, se os Styx colocarem as garras em vocês, vão obrigá-lo a vomitar tudo, mais cedo ou mais tarde, e isso colocaria a todos nós em perigo — disse ele agourentamente.
— Então temos que ir também não é, tio Tam? — sugeriu Cal a voz cheia de bravata.
— Deve estar brincando! — Tam virou-se rapidamente para ele. — Não teríamos esperança nenhuma. Nem mesmo os veríamos chegar.
— Mas... — começou Cal.
— Veja bem, isto não é um jogo, Cal. Se você cruzar com eles com demasiada freqüência, não durará tempo suficiente para se arrepender. Antes que perceba, estará fazendo a Dança de Satanás. — Ele parou. — Sabe o que é isso? — Tam não esperou por uma resposta. — É um pequeno número primoroso. Seus braços são presos às costas... — ele se ergueu desconfortavelmente da poltrona — ...com fios de cobre, as pálpebras são arrancadas e você é largado na câmara mais escura que pode imaginar, cheia de Vermelhos de Fogo.
— Vermelhos do quê? — perguntou Will.
Tam deu de ombros e, ignorando a pergunta de Will, continuou.
— Quanto tempo acha que vai durar? Quantos dias batendo nas paredes na escuridão de breu, a terra ardendo em seus olhos arruinados, antes de você desmaiar de exaustão? Sentindo as primeiras mordidas em sua pele quando eles começarem a se alimentar? Eu não desejaria isso nem a meu pior... — ele não terminou a frase.
Os dois meninos engoliram em seco, mas a expressão de Tam se iluminou novamente.
— Já chega disso — disse ele. — Você ainda tem aquela luz, não tem?
Ainda atordoado com o que acabara de ouvir, Will olhou pasmo para Tam. Ele se recompôs e assentiu.
— Ótimo — disse Tam ao pegar uma trouxinha de pano do bolso do casaco e colocada na mesa diante de Will. — E isto pode ser útil.
Will tocou a trouxa, inseguro.
— Vamos, dê uma olhada.
Will desamarrou os cantos. Dentro dela, havia quatro pedras pretas amarronzadas e nodosas do tamanho de bolas de gude.
— Pedras de nó! — disse Cal.
— Sim. São mais raras do que botas de lesma. —- Tam sorriu. — São descritas nos livros antigos, mas ninguém viu uma na vida, a não ser eu e meus rapazes. Imago encontrou esta porção.
— O que elas fazem? — perguntou Will, olhando as pedras estranhas.
— Aqui embaixo, você não poderá derrotar um colono ou, pior ainda, um Styx num confronto direto. As únicas armas que terá são luz e fuga — disse Tam. — Se chegar a um canto apertado, abra uma dessas coisas. Jogue em algo duro e fique de olhos fechados... haverá a explosão da luz mais forte que pode imaginar. Espero que estas ainda estejam boas — acrescentou, pesando uma delas na mão. Ele olhou para Will. — Acha que está preparado para isso?
Will assentiu.
— Muito bem — disse o homenzarrão.
— Obrigado, tio Tam. Nem posso lhe dizer como... — disse Will, a voz lhe faltando.
— Não precisa, meu rapaz. — Tam afagou seu cabelo. Ele olhou a mesa e nada disse por alguns segundos. Foi totalmente inesperado; o silêncio e Tam não combinavam. Will nunca o vira desse jeito, este homem gregário e enorme. Só pôde pensar que ele estava aborrecido e tentava esconder isso. Mas quando Tam ergueu a cabeça, o sorriso largo estava di e sua voz trovejou como sempre fazia.
— Eu vi tudo isso vindo... sabia que ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. Os Macaulay são leais e lutaremos por aquilo que amamos e em que acreditamos, independente do preço. Você teria tentado fazer alguma coisa para salvar Chester e iria atrás de seu pai, quer eu o ajudasse ou não.
Will assentiu, sentindo os olhos se encherem de lágrimas.
— Idéias demais! — trovejou Tam. — Como sua mãe... como Sarah... um Macaulay da cabeça aos pés! — Ele segurou Will com firmeza pelos ombros. — Minha cabeça sabe que você tem que ir, mas meu coração diz o contrário. — Ele apertou Will e suspirou.
— É uma pena... que tenhamos passado poucos momentos aqui embaixo, nós três. Na verdade, alguns momentos ótimos.
Will, Cal e Tam conversaram até a madrugada e, quando finalmente foi para a cama, Will não conseguiu dormir nada.
De manhã bem cedo, antes que houvesse alguma agitação na casa, Will preparou a mochila e colocou no cano da bota o mapa de pano que o tio lhe dera. Verificou se as pedras de nó e o globo de luz estavam nos bolsos e foi até Cal, acordando-o com uma sacudida.
— Estou indo — disse Will em voz baixa enquanto os olhos do irmão se abriam. Cal se sentou, coçando a cabeça.
— Obrigado por tudo, Cal — sussurrou Will —, e diga adeus à vovó por mim, tá?
— Claro que direi — respondeu o irmão, depois franziu o cenho. — Sabe que eu daria qualquer coisa para ir também.
— Eu sei, eu sei... mas você ouviu o que Tam disse, eu tenho mais chances sozinho. De qualquer modo, sua família está aqui — disse ele por fim, e virou-se para a porta.
Will desceu a escada na ponta dos pés. Sentia-se alegre por estar em movimento de novo, mas a alegria era temperada por uma pontada inesperada de tristeza por estar partindo. É claro que ele podia ficar aqui, se quisesse, num lugar a que realmente pertencia, em vez de se aventurar no desconhecido e arriscar tudo. Seria tão fácil simplesmente voltar para a cama. Ao chegar ao hall, ele ouviu Bartleby roncando em algum lugar nas sombras. Era um som reconfortante, o som do lar. Se fosse embora agora, nunca mais ouviria esse som. Ele parou na porta da frente e hesitou. Não! Como poderia conviver consigo mesmo se optasse por deixar Chester com os Styx? Preferia morrer tentando libertá-lo. Will respirou fundo e, olhando a casa silenciosa, deslizou a tranca pesada da porta. Ele a abriu, chegou à soleira e a fechou delicadamente às costas. Estava do lado de fora.
Ele sabia que tinha uma distância considerável a cobrir, então andou rapidamente, a mochila batendo ritmada nas costas. Precisou de menos de quarenta minutos para chegar ao prédio na beira da caverna, descrito por Tam. Não havia como confundir, uma vez que era tão diferente da maioria das estruturas na Colônia, por ter um telhado de lajotas em vez de ser de pedra.
Ele agora estava na rua que levava ao Portão da Caveira. Tam dissera que ele tinha que ficar atento enquanto os Styx mudavam de sentinelas a intervalos aleatórios, e não havia como saber se um deles estava prestes a aparecer por ali. Saindo da rua, Will subiu em um portão e disparou pelo pátio que se estendia diante da construção, uma propriedade rural em ruínas. Ouviu um grunhido de porco vindo de um dos prédios em silhueta e localizou algumas galinhas num cercado em outra área. Eram magras e desnutridas, mas tinham penas completamente brancas.
Ele entrou no prédio de telhado de lajotas e viu as velhas vigas de madeira encostadas na parede, como Tam havia descrito. Ao se aproximar de mansinho delas, algo se mexeu atrás dele.
— O que...?
Era Tam. De imediato ele silenciou Will, colocando um dedo em seus lábios. Will mal pôde conter a surpresa. Olhou inquisitivamente para ele, mas a expressão do homem era sombria e ele não sorria.
Sob as vigas, mal havia espaço para os dois ali e Tam se abaixou desajeitado ao deslizar uma laje enorme pela parede. Depois inclinou-se para Will.
— Boa sorte — sussurrou ele em seu ouvido e literalmente o empurrou pela abertura irregular. Depois a laje se fechou num raspão atrás de Will e ele estava sozinho novamente.
Na escuridão de breu, ele procurou o globo luminoso no bolso, ao qual já havia prendido um pedaço de barbante grosso. Ele passou o barbante pelo pescoço, deixando as mãos livres. No início, andou pela passagem com facilidade, mas depois de nove ou dez metros ela caía numa via estreita. O teto do túnel era tão baixo que Will teve que ficar de quatro. A passagem inclinava-se para cima e, ao seguir dolorosamente sobre as placas irregulares de pedra quebrada, sua mochila raspava no teto.
Ele percebeu um movimento à frente e ficou paralisado. Tremendo um pouco, ergueu o globo luminoso e viu o que era. Will prendeu a respiração enquanto algo branco lampejava pela passagem e caía com um baque suave a cerca de dois metros dele. Era um rato sem olhos, do tamanho de um filhote de gato bem nutrido, com o pêlo branco e bigodes que se agitavam como asas de borboleta. Ficou de pé sobre as patas traseiras, o focinho se retorcendo e os grandes incisivos cintilando em plena vista. Não demonstrava o menor medo de Will.
Will encontrou uma pedra no chão do túnel e a atirou com a maior força que pôde. Ele errou o alvo e a pedra bateu na parede ao lado do animal, que sequer vacilou. Will ficou indignado que um simples rato o estivesse impedindo de prosseguir e avançou para o animal com um grunhido. Em um único salto sem esforço, ele pulou em Will, caindo habilidosamente em seu ombro, e por uma fração de segundo nem o menino nem o rato se mexeram. Will sentiu os bigodes, delicados como cílios, roçando em seu rosto. Ele sacudiu os ombros freneticamente e o rato se atirou para fora, disparando pela perna de Will ao acelerar na direção contrária.
— Seu bos... — murmurou Will, tentando se recompor antes de partir novamente.
Ele engatinhou pelo que pareceram horas, as mãos se cortando e ficando sensíveis das lascas afiadas espalhadas pelo chão. Depois, para grande alívio dele, a altura da passagem aumentou e ele quase foi capaz de ficar de pé. Agora que podia se deslocar rapidamente, Will ficou quase eufórico e sentiu um impulso irresistível de cantar ao andar pelas curvas do túnel. Ele pensou melhor quando lhe ocorreu que as sentinelas do Portão da Caveira não deviam estar muito longe de sua posição atual e era possível que o ouvissem.
Por fim, chegou à extremidade da passagem, coberta de várias camadas de aniagem rígida, suja de terra para camuflada, junto às pedras. Ele as puxou de lado e prendeu a respiração ao ver que o túnel dava bem debaixo do teto de uma caverna e que havia uma queda de pelo menos trinta metros até a rua abaixo. Ficou satisfeito por ter ido tão longe, passado pelo Portão da Caveira, mas tinha certeza de que isto não podia estar certo. A altitude era tão estonteante que de imediato Will supôs que devia estar no lugar errado. Então as palavras de Tam lhe voltaram: “Parecerá impossível, mas vá devagar. Cal conseguiu comigo quando era muito mais novo, então você também pode fazer.”
Ele se inclinou para olhar o leque de saliências e fendas no paredão rochoso. Depois subiu cautelosamente na beira de uma aba do túnel e começou a descer, verificando sem parar a cada passo trêmulo antes de fazer o movimento seguinte.
Havia escalado pouco mais de seis metros quando ouviu um barulho embaixo. Um gemido desolado. Will ficou imóvel e escutou, o coração martelando nos ouvidos. E surgiu novamente. Ele estava com um dos pés numa pequena saliência e o outro pendia no meio do ar, enquanto as mãos agarravam-se a um afloramento rochoso na altura do peito. Will girou a cabeça devagar e olhou por sobre o ombro.
Balançando uma lanterna, um homem andava para o Portão da Caveira com duas vacas emaciadas a alguns passos à frente. Gritou alguma coisa para elas enquanto as conduzia, sem a menor consciência da presença de Will acima dele.
Will estava inteiramente exposto, mas não havia nada que pudesse fazer. Ficou imóvel, rezando para que o homem não parasse e olhasse para cima. Então, aconteceu exatamente o que Will temia: o homem parou de repente.
Ah, não, essa não!
Com sua visão do alto, Will podia distinguir com clareza o couro cabeludo branco e brilhante do homem enquanto ele pegava alguma coisa em um saco no ombro. Era um cachimbo de argila com a haste longa, que ele carregou com o tabaco de uma algibeira e acendeu, soltando pequenas nuvens de fumaça. Will o ouviu dizer alguma coisa às vacas e ele recomeçou a andar.
O garoto soltou um suspiro silencioso de alívio e, vendo que não havia mais ninguém, terminou rapidamente a descida, passando de uma saliência para outra até estar seguro no chão. Depois, correu o mais rápido que pôde pela rua, em cujas laterais havia campos de cogumelos impossivelmente grandes, os chapéus bulbosos e ovais destacando-se de caules grossos. Ele agora sabia que eram porcini e, enquanto prosseguia, a luz balançando em sua mão lançou uma multiplicidade de sombras móveis nas paredes da caverna atrás dele.
Will reduziu o passo ao sentir uma pontada na lateral do corpo. Respirou fundo várias vezes para tentar atenuá-la, depois se obrigou a acelerar de novo, ciente de que cada segundo era precioso, se queria alcançar Chester a tempo. Deixando caverna atrás de caverna, os campos de porcini por fim deram lugar a tapetes escuros de liquens e ele ficou aliviado quando localizou o primeiro dos postes e a silhueta nebulosa de um prédio ao longe. Estava chegando mais perto. De repente ele se viu num arco enorme recortado na pedra. Passou pelo arco, entrando no corpo principal do Quartel. Logo os moradores lotavam os dois lados da rua e ele foi ficando cada vez mais nervoso. Embora ninguém parecesse estar por perto, ele fez o menor barulho possível com as botas ao correr. Estava com medo de que alguém aparecesse de uma das casas e o visse.
Depois, ele viu o que procurava. Era o primeiro dos túneis que Tam mencionara.
“Você deve pegar as ruas de trás”, ele se lembrou das palavras do tio. “É mais seguro por ali.”
— Esquerda, esquerda, direita. — Enquanto continuava, Will repetia a seqüência que Tam cantarolara para ele.
Os túneis eram largos o suficiente para a passagem de um coche. “Atravesse-os rapidamente”, disse o tio. “Se encontrar alguém, dispense-o e aja como se devesse estar ali.”
Mas não havia sinal de ninguém enquanto Will corria com toda a força, a mochila batendo nas costas a cada passo. Quando saiu da caverna principal, estava suando e sem fôlego. Ele reconheceu a silhueta atarracada da delegacia entre as duas estruturas mais altas de cada lado e reduziu os passos para uma caminhada para ter a oportunidade de se acalmar.
— Até agora, tudo bem — murmurou ele para si mesmo. O plano lhe parecera tão fácil quando Tam o descreveu, mas, naquele momento, ele se perguntava se tinha cometido um erro pavoroso. “Você não terá tempo para pensar”, dissera-lhe Tam, apontando-lhe o dedo para enfatizar as palavras. “Se você hesitar, o ímpeto terá se perdido — e toda a coisa desmoronará.”
Will enxugou o suor da testa e se preparou para a fase seguinte.
À medida que se aproximava, a visão da entrada da delegacia lhe trouxe as lembranças da primeira vez em que ele e Chester foram arrastados por seus degraus e dos interrogatórios horrendos que se seguiram. Todas voltaram numa enxurrada e ele tentou afastá-las da mente ao deslizar pelas sombras ao lado do prédio e levantar a mochila. Pegou a câmera, verificando-a rapidamente antes de colocada no bolso. Depois escondeu a mochila e foi para a escada. Ao subir, Will respirou fundo e passou pelas portas.
O Segundo Oficial estava recostado em uma cadeira com os pés no balcão. Seus olhos giraram ao dar pela presença do recém-chegado, os movimentos lentos como se ele estivesse cochilando. Precisou de quase um segundo para reconhecer quem estava de pé diante dele, então uma expressão confusa apareceu em seu rosto carnudo.
— Ora, ora, ora, Jerome. Por que diabos voltou aqui?
— Vim ver o meu amigo — respondeu Will, rezando para que a voz não falhasse. Parecia-lhe que estava avançando pelo galho de uma árvore e, quanto mais prosseguia, mais fino e mais precário ficava o galho. Se perdes-se o equilíbrio agora, a queda poderia ser fatal.
— Então quem deixou você voltar aqui? — disse o Segundo Oficial cheio de desconfiança.
— Quem pensa que foi? — Will tentou sorrir com calma.
O Segundo Oficial ponderou por um momento, olhando para ele de cima a baixo.
— Bom, parece-me que... se deixaram você passar pelo Portão da Caveira, deve estar tudo bem — raciocinou ele em voz alta ao se erguer devagar.
— Me disseram que eu podia vê-lo — disse Will —, pela última vez.
— Então sabe que será esta noite? — disse o Segundo Oficial com uma sugestão de sorriso. Will assentiu e viu que isto dissipara quaisquer dúvidas na mente do homem. De repente, as maneiras do policial se transformaram.
— Não veio a pé o caminho todo, não é? — perguntou ele. Um sorriso simpático e generoso vincou seu rosto como um talho na barriga de um porco. Will não conhecia este lado do policial e isto tornou ainda mais difícil para ele fazer o que tinha que fazer.
— Sim, tive que sair cedo.
— Não me admira que pareça ter calor. Então é melhor vir comigo — disse o Segundo Oficial ao erguer a aba no final do balcão e passar por ele, chocalhando as chaves. — Soube que você se adaptou muito bem — acrescentou ele. — Eu sabia que se adaptaria... no momento em que pus os olhos em você. No fundo, você é um de nós, eu disse ao Primeiro Oficial. É talhado para isso, eu disse a ele.
Eles passaram pela antiga porta de carvalho e entraram na escuridão do Cárcere. O cheiro familiar deu arrepios em Will, enquanto o Segundo Oficial girava a porta da cela e o conduzia para dentro. Will precisou de um momento para que os olhos se adaptassem, depois viu: Chester sentado no canto da saliência, as pernas puxadas sob o queixo. O amigo não reagiu de imediato, mas encarou Will com um olhar vago. Depois, com um lampejo de reconhecimento e descrença, ele ficou de pé.
— Will? — disse ele, o queixo caindo. — Will! Não acredito nisso!
— Oi, Chester — disse Will, tentando afastar a empolgação da voz. Ele estava exultante por vê-lo novamente, mas ao mesmo tempo todo seu corpo tremia de adrenalina.
— Veio me tirar daqui, Will? Posso sair agora?
— É... não é bem isso. — Will meio que se virou, ciente de que o Segundo Oficial estava bem atrás e podia ouvir cada palavra.
O Segundo Oficial tossiu, constrangido.
— Tenho que trancar você aí dentro, Jerome. Espero que entenda... é o regulamento — disse ele ao fechar a porta e passar a chave.
— O que é, Will? — perguntou Chester, sentindo que alguma coisa estava errada. — Más notícias? — Ele deu um passo para longe de Will.
— Você está bem? — respondeu Will, preocupado demais em responder ao amigo enquanto escutava o Segundo Oficial sair do Cárcere pela porta de carvalho e a fechar firmemente. Depois, ele levou Chester a um canto da cela e os dois ficaram juntos, enquanto Will explicava o que tinham de fazer.
Logo chegou o som que Will temia: o Segundo Oficial voltava ao Cárcere, na direção deles.
— Acabou o tempo, cavalheiros — disse ele. Girou a chave e abriu a porta, e Will caminhou para ela lentamente.
— Tchau, Chester — disse ele.
Quando o Segundo Oficial começou a fechar a porta, Will pôs a mão no braço do homem.
— Só um minutinho, acho que deixei uma coisa lá — disse ele.
— O que é? — perguntou o homem.
O Segundo Oficial olhava diretamente para ele enquanto Will tirava a mão do bolso. Ele viu a luzinha vermelha acesa: a câmera estava pronta. Empurrando-a para o homem, Will apertou o disparador. O flash pegou em cheio a cara do policial. Ele gemeu e largou as chaves, colocando as mãos nos olhos ao tombar no chão. O flash fora tão forte, se comparado com o brilho sublime dos globos luminosos, que até Will e Chester, que haviam se protegido dele, sentiram o choque.
— Desculpe — disse Will ao homem que gemia.
Chester estava imóvel na cela, com uma expressão estupefata.
— Anda logo, Chester! — gritou Will enquanto se inclinava e o puxava, passando pelo Segundo Oficial, que começava a tatear até a parede, ainda gemendo terrivelmente.
Ao entrarem na recepção, Will por acaso deu uma olhada no balcão.
— Minha pá! — exclamou ele ao se abaixar e pegá-la da parede. Estava voltando quando viu o Segundo Oficial cambalear para fora do Cárcere. O homem agarrou Chester às cegas e, antes que entendesse o que estava acontecendo, Will sentiu a mão em seu pescoço.
Chester soltou um grito estrangulado e tentou se libertar.
Will não parou para pensar. Girou a pá. Com um baque de esmagar os ossos, ela se chocou na testa do Segundo Oficial e ele desabou no chão com um gemido.
Desta vez, Chester não demorou tanto a entender. Estava bem atrás de Will quando eles se atiraram para fora da delegacia, reduzindo o passo o bastante para Will pegar a mochila antes que os dois entrassem no trecho de rua que Chester passou tantas horas olhando da cela. Depois eles correram por um túnel lateral.
— O caminho é esse mesmo? — disse Chester, respirando mal e tossindo.
Will não respondeu e continuou correndo até que chegaram ao fim do túnel.
Lá estavam elas, exatamente como Tam descrevera, três casas parcialmente demolidas no perímetro de uma caverna circular grande como um anfiteatro. A superfície saturada e argilosa era elástica sob seus pés e o ar cheirava a estéreo velho. As paredes da caverna chamaram a atenção de Will. O que no início ele pensou que fossem aglomerados de estalagmites eram, na realidade, troncos de árvores petrificados, alguns quebrados pela metade e outros retorcidos e entrelaçados. Estes restos fossilizados se destacavam como uma floresta de pedra escavada nas sombras.
Will se sentia cada vez mais inquieto, como se alguma coisa doentia e ameaçadora irradiasse das árvores antigas. Ficou aliviado quando chegaram à casa do meio e empurraram a porta da frente, que se abriu lenta em uma única dobradiça.
“Atravesse o hall, siga direto em frente...”
Chester fechou a porta com o ombro ao passar enquanto Will entrava na cozinha. Era mais espaçosa do que a da casa de Jerome. Ao atravessarem o piso ladrilhado, agitou-se um tapete grosso de poeira. A poeira chicoteou para cima numa minitempestade e, no brilho do globo luminoso, cada movimento que os dois faziam deixava um rastro de pó flutuando no ar.
“Localize o ladrilho da parede com a cruz pintada.”
Will o encontrou e empurrou. Uma pequena abertura apareceu num estalo sob sua mão. Dentro dela havia uma maçaneta. Ele a girou para a direita e toda uma seção da parede se abriu para fora — era uma porta bem disfarçada. Atrás dela, havia uma antecâmara com caixas empilhadas de cada lado, e mais além uma porta na parede mais distante. Mas não era uma porta comum — era feita de ferro pesado, incrustado de rebites, e havia uma manivela ao lado para abri-la.
“É hermética — para impedir a entrada dos germes.”
Havia uma portinhola de inspeção no alto, mas não se via nenhuma luz pelo vidro fosco.
— Continue enquanto eu encontro o equipamento de respiração — ordenou Will a Chester, apontando a manivela. O amigo se inclinou sobre a alavanca e houve um sibilar alto quando o grosso lacre de borracha, na base da porta, ergueu-se do chão. Will encontrou as máscaras que Tam dissera que estariam ali, capuzes de lona antigos com tubos de borracha preta presos a cilindros. Assemelhavam-se a uma espécie de equipamento de mergulho antigo.
Depois, do escuro do lado de fora, Will ouviu um miado melancólico. Ele sabia o que era antes mesmo de se virar.
— Bartleby! — O gato pulou pelo corredor. Com as patas riscando excitadas a poeira, ele foi direto até a porta secreta, enfiando o focinho no espaço e farejando inquisitivamente.
— O que é isso? — Chester ficou tão confuso ao ver o gato gigantesco que soltou a manivela. Ela rodou livremente, a porta girou em seus trilhos e bateu. Bartleby deu um pulo para trás.
— Pelo amor de Deus, Chester, continue abrindo esta porta! — gritou Will.
Chester assentiu e começou novamente.
— Precisa de ajuda? — perguntou Cal, entrando no campo de visão.
— Não! Você também, não! O que é que está fazendo aqui? — Will arfou.
— Eu vou com vocês — respondeu Cal, surpreso com a reação do irmão.
Chester parou de girar a manivela e olhou rapidamente de um irmão para outro.
— Ele é a sua cara!
Will tinha chegado a um ponto em que toda a situação assumira uma insanidade própria, fortuita e inauspiciosa. O plano de Tam desmoronava diante de seus olhos e ele teve a sensação medonha de que todos iam ser pegos. Precisava recolocar as coisas nos trilhos... de algum jeito... e rápido.
— PELO AMOR DE DEUS, ABRA ESSA PORTA, POR FAVOR — berrou ele a plenos pulmões e Chester humildemente reassumiu a manivela. A porta agora estava a meio metro do chão e Bartleby enfiou a cabeça por baixo para explorar, abaixou-se e deslizou pela abertura, sumindo completamente de vista.
— Tam não sabe que está aqui, sabe? — Will pegou o irmão pela gola do casaco.
— É claro que não. Eu decidi que estava na hora de ir para a Crosta, como você e a mamãe.
— Você não irá — Will rosnou entre os dentes trincados. Depois, ao ver a mágoa no rosto do irmão, largou seu casaco e suavizou a voz. — É sério, você não pode... Tio Tam mataria você por estar aqui. Vá para casa agora... — Will não terminou a frase. Ele e Cal sentiram o cheiro de uma forte vibração de amônia ondulando no ar.
— O alarme! — disse Cal com os olhos tomados de pânico.
Eles ouviram uma comoção do lado de fora, alguém gritando e depois o barulho de vidro quebrado. Correram até a janela da cozinha e olharam pela vidraça rachada.
— Os Styx! — Cal arfou.
Will estimou que havia pelo menos trinta deles formando um semicírculo diante da casa e estes eram só os que conseguia ver de sua posição limitada. Estremeceu só de pensar quantos havia no total. Ele se abaixou e olhou para Chester, que girava freneticamente a manivela da porta, abrindo-a agora o suficiente para que eles passassem.
Will olhou o irmão e sabia que só havia uma coisa a fazer. Não podia deixado à mercê dos Styx.
— Anda! Passe por baixo da porta — sussurrou ele com urgência.
A cara de Cal se iluminou e ele começava a agradecer a Will, que enfiou o equipamento de respiração em suas mãos e o empurrou para a porta.
Enquanto Cal deslizava pelo espaço, Will virou-se novamente para a janela a tempo de ver os Styx avançando para a casa. Foi o bastante — ele se atirou na porta, gritando freneticamente para Chester pegar a máscara e segui-lo. Enquanto ouvia a porta da frente da casa se abrir, ele entendeu que havia tempo suficiente para que eles escapassem.
Então, aconteceu uma daquelas coisas horríveis.
Um daqueles acontecimentos que, mais tarde, você repassa em sua mente sem parar... mas internamente você sabe que não havia nada que pudesse ter feito.
Foi quando eles ouviram.
Uma voz que os dois conheciam.
Capítulo Trinta
– O velho Will de sempre — disse ela, deixando-os paralisados.
Will estava com metade do corpo para dentro da abertura, a mão segurando o braço de Chester para puxá-lo, quando olhou a soleira da porta da cozinha e congelou.
Uma menina entrava no cômodo ladeada por dois Styx.
— Rebecca? — Will arfou e sacudiu a cabeça como se seus olhos os estivessem traindo.
— Rebecca! — disse ele novamente, incrédulo.
— E aí, aonde você está indo? — disse ela friamente. Os dois Styx avançaram um pouco, mas ela ergueu a mão e os deteve.
Seria algum truque? Ela estava com as roupas deles, o uniforme deles — o casaco preto e a camisa branca. E o cabelo preto era diferente — estava puxado com força para trás.
— O que você está...? — foi o que Will conseguiu dizer antes de as palavras lhe faltarem.
Ela foi capturada. Deve ser isso. Sofreu uma lavagem cerebral ou é refém deles.
— Por que continua fazendo essas coisas? — ela suspirou teatralmente, erguendo uma sobrancelha. Parecia relaxada e controlada. Tinha alguma coisa errada por aqui, algo não estava batendo.
Não.
Ela era um deles.
— Você é... — ele ofegava.
Rebecca riu.
— Ele não é rápido?
Atrás dela, os Styx entravam na cozinha. A mente de Will disparou, as lembranças voltando a uma velocidade vertiginosa enquanto ele tentava conciliar Rebecca, a irmã, com a menina Styx diante dele. Teria havido um sinal, alguma pista que ele deixara passar?
— Como? — gritou ele.
Divertindo-se com a confusão, Rebecca falou.
— É tudo muito simples. Fui colocada em sua família quando tinha dois anos. É assim que nós... nos associamos com os Pagãos... é o treina-mento para a elite.
Ela avançou um passo.
— Não! — disse Will, a mente recomeçando a trabalhar e a mão disfarçadamente entrando no bolso do casaco. — Não acredito nisso!
— É difícil aceitar, não é? Fui colocada lá para ficar de olho em você... e, se tivéssemos sorte, fazer a sua mãe aparecer... a sua mãe verdadeira.
— Não é verdade.
— Não importa no que você acredita — respondeu ela asperamente. — Meu trabalho chegou a seu termo, então aqui estou eu, em casa novamente. Não preciso mais fingir.
— Não! — gritou Will enquanto fechava a mão no pequeno embrulho de pano que Tam lhe dera.
— Venha, acabou — disse Rebecca com impaciência. Depois que Rebecca assentiu imperceptivelmente, os Styx dos dois lados avançaram, mas Will estava pronto. Ele atirou com toda a força a pedra de nó na cozinha. Ela voou entre os dois Styx que avançavam e bateu nos ladrilhos brancos e sujos, partindo-se numa nevasca de fragmentos minúsculos.
Tudo parou.
Por uma fração de segundo Will pensou que nada ia acontecer, que não tinha funcionado. Ele ouviu Rebecca rir, um riso seco, de zombaria.
Depois, houve um silvo, como se o ar estivesse sendo sugado do cômodo. Ao cair no chão, cada lasca minúscula lampejou com uma incandescência estonteante, lançando feixes que explodiram na cozinha como um milhão de holofotes. Eram tão intensos que tudo adquiriu um branco insuportável e ardente.
Mas não pareceu incomodar Rebecca em nada. Com a luz brilhando em volta, ela se destacava como um anjo das trevas, os braços cruzados na pose característica enquanto cacarejava de desaprovação.
Mas os dois Styx que avançavam pararam de repente e soltaram guinchos como o som de unhas raspando um quadro-negro. Cambalearam às cegas, tentando cobrir os olhos.
Isso deu a Will a oportunidade que procurava. Ele deu um puxão em Chester, arrancando-o da manivela.
Mas a luz já estava diminuindo e outros dois Styx empurravam de lado os companheiros cegos. Eles se lançaram para Will, os dedos de garra procurando por ele. Enquanto o garoto continuava a puxar um dos braços de Chester, os dois Styx tinham se fechado no outro braço. Houve um cabo-de-guerra entre Will e os Styx, com um Chester apavorado e lamuriento preso no meio. Pior ainda, agora ninguém estava manipulando a manivela, que girava como louca enquanto a porta enorme caía lentamente em seus trilhos. E Chester estava em seu caminho.
— Empurre os dois! — gritou Will.
Chester tentou chutar, mas foi em vão; eles o seguravam com muita força. Will se colocou contra a porta numa tentativa inútil de reduzir seu avanço, mas ela era pesada demais e quase o desequilibrou. Não havia como fazer alguma coisa e salvar Chester ao mesmo tempo.
Enquanto os Styx grunhiam e puxavam, e Chester tentava resistir com toda a força, Will entendeu que os Styx não podiam ser derrotados. Chester estava escorregando de suas mãos e gritava de dor com as unhas dos Styx cravando-se em seu braço.
E então, enquanto a porta continuava sua descida implacável, Will entendeu subitamente: Chester seria esmagado a não ser que ele o soltasse.
A não ser que ele entregasse Chester aos Styx.
A manivela girava loucamente. Agora a porta estava a pouco mais de um metro do chão e Chester era curvado em dois — todo o peso da porta descia em suas costas. Will precisava fazer alguma coisa, e rápido.
— Chester, me desculpe! — gritou Will.
Por um momento, Chester, com os olhos arregalados de pavor, encarou o amigo. Depois, Will soltou seu braço e ele voou direto para os Styx, o impulso derrubando-os num trambolhão de braços e pernas. Chester gritou o nome de Will uma vez quando a porta bateu com uma irrevogabilidade terrível. O garoto só pôde olhar entorpecido através do vidro leitoso da portinhola enquanto Chester e os Styx caíam numa pilha de encontro à parede. Um dos Styx se recuperou de pronto e correu para a porta.
— PRENDA A MANIVELA! — o grito de Cal reanimou Will. Enquanto Cal erguia o globo luminoso, Will passou a trabalhar no mecanismo ao lado da porta. Ele abriu o canivete e, usando a lâmina maior, tentou travar as engrenagens.
— Por favor, tem que funcionar! — pediu Will. Ele tentou vários lugares antes de a lâmina escorregar entre duas das rodas maiores e ficar no lugar. Will afastou as mãos, rezando para que desse certo. E deu, o canivete pequeno e vermelho tremendo enquanto o Styx aplicava pressão na manivela do outro lado.
Will olhou pela portinhola de novo. Como um filme mudo e macabro, não conseguiu deixar de ver a cara de desespero de Chester lutando valentemente com os Styx. De algum modo ele conseguiu pegar a pá de Will e tentava golpeá-los. Mas era superado em número pelos Styx, que enxameavam sobre Chester como gafanhotos famintos.
Mas então um rosto bloqueou todo o resto ao assomar na portinhola.
O rosto de Rebecca. Ela franziu os lábios severamente e sacudiu a cabeça para Will, como se o repreendesse, exatamente como fez em todos aqueles anos em Highfield. Dizia alguma coisa, mas era inaudível pela porta.
— Temos que ir, Will. Eles vão acabar abrindo — disse Cal com urgência. Will desviou os olhos com dificuldade. Ela ainda murmurava alguma coisa para ele. E com uma percepção súbita e arrepiante, ele entendeu o que era. Entendeu exatamente o que era. Ela estava cantando para Will.
— “Sunshine...!” — disse ele com amargura. — “You are my sunshine!”
Eles dispararam pela passagem de pedra com Bartleby guardando a retaguarda e por fim chegaram a um átrio abobadado do qual saíam várias passagens. Tudo era redondo e liso, como séculos de água corrente tivessem esfregado qualquer aresta afiada. Agora estava seco, cada superfície coberta de um limo abrasivo, como vidro em pó.
— Só temos uma máscara — disse Will de repente a Cal, quando se deu conta da situação. Ele pegou a lona e a engenhoca de borracha do irmão e as examinou.
— Ah, não! — A cara de Cal caiu. — E agora, o que vamos fazer? Não podemos voltar.
— O ar na Cidade Eterna — disse Will —, qual é o problema dele?
— Tio Tam disse que houve uma espécie de peste. Matou todas as pessoas...
— Mas não existe mais, não é? — perguntou Will rapidamente, temendo a resposta.
Cal assentiu lentamente.
— Tam disse que sim.
— Então, você usa a máscara.
— De jeito nenhum!
Num átimo, Will colocou a máscara na cabeça de Cal, abafando seus protestos. Cal lutou, tentando tirá-la, mas Will não permitiu.
— É sério! Você tem que usar — insistiu Will. — Eu sou o mais velho, então sou eu quem decido.
Nisso, Cal parou de resistir, os olhos espiando ansiosos pela faixa de vidro enquanto Will se certificava de que o capuz estava assestado corretamente nos ombros. Depois ele afivelou a tira de couro para segurar os tubos e o filtro no peito do irmão. Procurou não pensar nas implicações que teria para si mesmo permitir que Cal usasse a máscara, e só esperou que a peste fosse outra das superstições dos colonos, que pareciam ser muitas. Depois, Will pegou o mapa que Tam lhe dera de dentro da bota, contou os túneis diante dos dois e apontou para o que tinham de tomar.
— Como aquela garota Styx conhece você? — A voz de Cal era indistinta através do capuz.
— Minha irmã. — Will baixou o mapa e olhou para ele. — Era a minha irmã... — ele cuspiu de desdém — ...ou era o que eu pensava.
Cal não demonstrou nenhum sinal de surpresa, mas Will pôde ver que ele estava assustado pelo modo como ficava olhando o trecho de túnel atrás deles.
— A porta não vai segurá-los por muito tempo — alertou o irmão, olhando nervoso para Will.
— Chester... — começou Will sem esperanças, depois se calou.
— Não havia nada que pudéssemos ter feito para ajudá-lo. Tivemos sorte de sair dessa vivos.
— Talvez — disse Will ao verificar novamente o mapa. Ele sabia que não tinha tempo para pensar em Chester, não neste momento mas, depois de todos os riscos que assumira para salvar o amigo, todo o exercício fracassara terrivelmente e ele estava achando difícil se concentrar no que fazer a seguir. Ele respirou fundo. — Então, acho que devemos ir.
E assim os dois meninos, com o gato atrás, partiram num trote constante, penetrando cada vez mais fundo no complexo de túneis subterrâneos que acabariam por levados à Cidade Eterna — e em seguida, esperava Will, à luz do sol outra vez.
PARTE TRÊS
A Cidade Eterna
Capítulo Trinta e Um
Um dois, um dois, um, um, um dois.
A dupla corria e Will se acostumara ao ritmo fácil que antigamente usava nos turnos de escavação mais extenuantes em Highfield. Os túneis eram secos e silenciosos; não havia o mais leve sinal de que alguma coisa vivia ali. E à medida que seus pés pisoteavam o chão arenoso, em nenhum momento Will percebeu nenhuma poeira suspensa atrás deles no feixe de luz do globo luminoso. Era como se sua passagem ficasse completamente despercebida.
Mas logo começou a notar fracas cintilações diante dos olhos, manchas de luz que se materializavam e depois, com a mesma subitaneidade, desapareciam de seu campo de visão. Ele olhou, fascinado, até que lhe ocorreu que devia haver alguma coisa errada. Ao mesmo tempo, uma dor surda tomou seu peito e um suor pegajoso surgiu em suas têmporas.
Um dois, um dois, um... um... um dois...
Will reduziu o ritmo, sentindo a resistência ao tentar respirar. Era peculiar; ele não conseguia localizar o problema. No início, pensou que era simples exaustão, mas não, era mais do que isso. Era como se o ar, depois de ficar imperturbável nestes túneis profundos, talvez até desde a pré-história, estivesse se comportando como um fluido lento.
Um dois, um...
Will parou de repente, afrouxando a gola e massageando os ombros sob as alças da mochila. Teve o impulso quase irresistível de se livrar do peso nas costas — deixava-o contraído e inquieto. E as paredes da passagem o perturbavam — eram próximas demais sufocavam-no. Ele recuou para o meio do túnel, onde se curvou sobre os joelhos e tomou várias golfadas de ar. Depois de um tempo, sentiu-se um pouco melhor e se obrigou a endireitar o corpo.
— O que foi? — perguntou Cal, olhando-o preocupado através da fenda de vidro da máscara.
— Nada — respondeu Will ao procurar o mapa no bolso. Não queria admitir sua fraqueza, certamente não ao irmão. — Eu... só preciso verificar nossa posição.
Ele se responsabilizou por identificar a rota pelas muitas voltas dos túneis, ciente de que o menor erro os deixaria perdidos neste emaranhado subterrâneo de complexidade tão extraordinária. Lembrou-se de que Tam se referira ao lugar como “Labirinto” e o comparou a uma pedra-pome com incontáveis poros conectados insinuando-se por ele. Na hora, Will não pensou muito nas palavras do tio, mas agora sabia precisamente o que ele queria dizer. A mera dimensão da área era assustadora e, embora eles tenham percorrido uma boa distância movendo-se rapidamente pelas passagens, Will calculou que ainda tinham um longo caminho pela frente. Eles eram consideravelmente auxiliados por um gradiente de descida suave, mas isto em si lhe causou certa consternação; estava consciente demais de que cada metro que desciam teria que ser subido novamente para que chegassem à superfície.
Ele olhou do mapa para as paredes. Tinham um matiz rosado provavelmente devido à presença de depósitos de ferro, o que podia explicar por que a bússola era completamente inútil ali embaixo. O ponteiro tremia lentamente pelo mostrador, sem jamais ficar na mesma posição por tempo suficiente para proporcionar algum tipo de leitura. Ao olhar em volta, Will refletiu que as passagens deviam ter sido formadas por gás preso sob algum tipo de tampão solidificado, como se tentasse escapar pela rocha vulcânica der-retida. Sim, este poderia ser o motivo para que não houvesse nenhum túnel vertical. Ou talvez tenham sido formadas pela água, que explorou linhas de fraqueza no decorrer dos milênios depois que a rocha esfriou. “O que será que papai faria com isso?”, pensou ele antes de se deter, o rosto murchando ao perceber que provavelmente nunca mais o veria de novo. Não agora. E por mais que tentasse, ele não conseguia deixar de se lembrar do último vislumbre de Chester rolando inutilmente pelo chão e tentando se livrar do aperto dos Styx. Will o deixara na mão outra vez... E Rebecca! Lá estava, era inquestionável, ele vira com os próprios olhos. Ela era uma Styx! Apesar de se sentir muito fraco, seu sangue ferveu. Teve vontade de soltar uma gargalhada ao pensar novamente em como se preocupou com ela. Mas agora não havia tempo para refletir, se eles queriam sair desta vivos, tinham que cuidar para não perder o rumo. Ele deu uma última olhada no mapa e o dobrou antes de reassumirem a jornada.
Um dois, um dois, um, um, um dois.
Com os pés esmagando a areia fina e vermelha, Will ansiou por uma mudança, um marco na paisagem, qualquer coisa para quebrar a monotonia, para confirmar que eles ainda estavam na trilha certa. Ele começou a se desesperar, pensando que jamais iam chegar ao fim. Pelo que ele sabia, os dois podiam estar andando em círculos.
Will ficou emocionado quando por fim deram no que parecia uma lápide pequena, com uma face plana e o alto arredondado, aninhada na parede da passagem. Cal o viu se agachar para escovar a areia de sua superfície.
Um golpe da mão revelou um símbolo entalhado na rocha rosada mais ou menos no meio da face. Compreendia três linhas divergentes, que se abriam como raios ascendentes ou os segmentos de um tridente. Abaixo, havia duas filas de letras angulosas. Os símbolos eram desconhecidos e não faziam sentido nenhum para ele.
— O que é isso? Uma espécie de sinal ou marco? — Will olhou o irmão, que deu de ombros, sem poder ajudar.
Várias horas depois, o trajeto se tornou lento e laborioso. Passavam por uma bifurcação atrás de outra no túnel e Will tinha que consultar o mapa com uma freqüência cada vez maior. Já haviam virado numa curva errada; por sorte, Will percebera o erro antes que tivessem ido longe demais e eles refizeram dolorosamente seus passos, encontrando o caminho correto de novo. Uma vez lá, deixaram-se cair no chão arenoso, parando por tempo suficiente para tomar fôlego. Apesar de sua luta, Will se sentia incomumente cansado, como se estivesse correndo no vazio E quando eles reassumiram a jornada, ele se sentia mais fraco do que nunca. Qualquer que fosse seu estado, Will não queria que Cal suspeitasse de que havia alguma coisa errada. Ele sabia que deviam continuar; deviam ficar à frente dos Styx, precisavam sair dali. Ele se virou para o irmão.
— Então, o que é que Tam faz nessa Cidade Eterna? — disse ele, respirando mal. — Ele foi muito cauteloso quando perguntei sobre isso.
— Ele procura por moedas e coisas assim, ouro e prata — disse Cal, depois acrescentou: — Em geral, nos túmulos.
— Túmulos?
— Nos cemitérios — Cal assentiu.
— Então realmente vivia gente lá?
— Há muito tempo. Ele imagina que várias raças ocuparam o lugar, uma depois da outra, cada uma construindo por cima da anterior. Disse que existem fortunas esperando por quem as encontre.
— Mas quem eram essas pessoas?
— Tam me disse que os bruteanos foram os primeiros, séculos atrás. Acho que ele disse que eram troianos. Eles construíram o lugar como uma fortaleza ou coisa assim, enquanto a Londres da Crosta era construída em cima.
— Então as duas cidades estavam ligadas?
A máscara de Cal assentiu gravemente.
— No começo. Mais tarde, as entradas foram bloqueadas e as pedras que as marcavam se perderam... a Cidade Eterna simplesmente foi esquecida — disse ele, bufando com ruído pelo filtro de ar. Ele olhou nervoso para trás, como se tivesse ouvido alguma coisa.
Will de imediato seguiu seu olhar, mas só o que pôde ver foi forma obscura de Bartleby saltando impaciente de um lado outro do túnel. Estava claro que queria ir mais rápido do que os dois meninos e de vez em quando passava acelerado por eles, mas depois parava para farejar uma fenda ou o chão à frente, em geral ficando visivelmente agitado e soltando um gemido baixo.
— Pelo menos os Styx nunca nos encontrarão neste lugar — disse Will com confiança.
— Não conte com isso. Eles vão nos seguir o tempo todo disse Cal. — E ainda teremos a Divisão diante de nós.
— A o quê?
— A Divisão Styx. São uma espécie de... bem... de guarda de fronteira — disse Cal, procurando pelas palavras certas. — Eles patrulham a cidade velha.
— Para quê? Pensei que estivesse desocupada.
— Dizem que estão reconstruindo áreas inteiras e remendando paredes de cavernas. Dizem que toda a Colônia pode se mudar para lá e há boatos de grupos de prisioneiros condenados, trabalhando como escravos. Mas são só boatos... ninguém tem certeza de nada.
— Tam nunca falou nada sobre outros Styx. — Will não tentou esconder o alarme em sua voz. — Mas que maravilha — disse ele com raiva, chutando uma pedra no caminho.
— Bem, talvez ele não tenha pensado que seria problema. Não saímos da Colônia exatamente em silêncio, não é? Mas não se preocupe demais com isso; é uma área enorme a cobrir e eles só terão alguns patrulheiros.
— Ah, que ótimo! É muito tranqüilizador! — respondeu Will, enquanto imaginava o que podia estar reservado para eles mais adiante. Eles andaram por várias horas, descendo por fim uma ladeira íngreme, os pés escorregando e derrapando na areia vermelha até que finalmente chegaram a uma área plana. Will sabia que, se o mapa foi lido corretamente, eles deviam estar se aproximando do final do Labirinto. Mas o túnel se estreitava diante deles e parecia dar num beco sem saída.
Temendo o pior, Will correu à frente, inclinando-se à medida que o teto se abaixava. Para alívio dele, descobriu que havia uma pequena passagem de um lado. Esperou até que Cal o alcançasse e os dois se olharam apreensivos enquanto Bartleby farejava o ar. Will hesitou, olhando repetidamente do mapa de Tam para a abertura e vice-versa. Depois encontrou os olhos de Cal e deu um largo sorriso ao se meter pela passagem estreita. Era banhada de uma luz esverdeada e suave.
— Cuidado — alertou Cal.
Mas Will já estava no canto. Ele ouviu um som familiar: o bater de água caindo. Moveu a cabeça até que só um dos olhos espiava pela beira. Ficou estarrecido com o que viu e se espremeu lentamente pela abertura, para o brilho verde-garrafa, a fim de ver melhor. Pela descrição de Tam e pelas imagens que sua mente conjurara, ele esperava alguma coisa fora do comum. Mas nada podia tê-lo preparado para a visão que seus olhos encontraram.
— A Cidade Eterna — sussurrou ele consigo mesmo ao começar a descer a escarpa enorme. Olhou para cima e seus olhos perscrutaram o teto do imenso espaço em domo, a água espirrando em seu rosto virado e fazendo-o vacilar.
— Chuva no subsolo? — murmurou ele, percebendo de imediato que isso era ridículo. Ele piscou quando a água caiu em seus olhos, fazendo-os arder.
— É infiltração de cima — disse Cal, parando atrás dele.
Mas Will não estava ouvindo. Achava difícil acreditar no volume titânico da caverna, tão imensa que seus cantos mais longínquos eram ocultos por uma neblina e as névoas da distância O chuvisco continuava a cair em carreiras langorosas e lentas enquanto eles voltavam a descer a escarpa.
Era demais para assimilar. Colunas de basalto, como arranha-céus sem janelas, arqueavam-se do teto agigantado no meio da cidade. Outras brotavam para cima, partindo do chão distante em curvas vertiginosas, englobando a cidade em contrafortes embriagantes. O tamanho do lugar engolia qualquer uma das cavernas da Colônia e trouxe à mente de Will a imagem de um coração gargantuesco, as câmaras entrecruzadas por colunas imensas como cordas do coração.
Ele colocou o globo luminoso no bolso e instintivamente procurou pela fonte do brilho verde-esmeralda que dava ao cenário uma propriedade onírica. Era como se estivesse vendo uma cidade perdida nas profundezas do mar. Ele não tinha certeza, mas a luz parecia vir das próprias paredes — tão sutilmente que no início ele pensou que elas simplesmente a refletiam.
Ele atravessou para o lado da escarpa e examinou a parede da caverna mais de perto. Era coberta de uma brotação desordenada de gavinhas, escuras e cintilantes de umidade. Era uma espécie de alga, composta de muitos brotos pendentes e em camadas espessas, como hera num muro antigo. Ao erguer a palma da mão, ele sentiu o calor irradiando dela e sim, podia ver que havia realmente um brilho fraco vindo da borda das folhas enrascadas.
— Bioluminescência — disse ele em voz alta.
— Humm — foi a resposta vaga de Cal sob o capuz de lona, que girava absurdamente de um lado a outro ao procurar pela Divisão Styx.
Continuando a descer a ladeira, Will voltou sua atenção para a caverna, concentrando-se no cenário mais maravilhoso de todos, a cidade em si. Mesmo desta distância, seus olhos devoraram famintos as passagens em arco, os terraços impossíveis e as escadas curvas que se estendiam para sacadas de pedra. Colunas, dóricas e coríntias, sustentavam galerias e passadiços vertiginosos. Sua excitação intensa era tingida de tristeza por Chester não estar vendo tudo isso com ele, como deveria estar. E o pai, isso teria feito sua mente explodir! Era simplesmente demais para ser absorvido de uma vez só. Para cada lado que Will olhava, havia as estruturas mais incríveis: coliseus e catedrais antigas com abóbadas em pedra lindamente trabalhada.
E então, à medida que chegava à base da escarpa, ele sentiu o cheiro. No início fora enganosamente suave, como de água estagnada, mas a cada passo que desciam se tornava mais pungente. Era rançoso, prendendo-se na garganta de Will como uma golfada de bile. Ele pôs a mão em concha sobre o nariz e a boca, e olhou desesperado para Cal.
— Isso é horrível! — disse ele, nauseado com o fedor. — Não admira que a gente precise usar uma dessas coisas!
— Eu sei — disse Cal monotonamente, a expressão oculta pela máscara respiratória enquanto ele apontava o barranco ao pé da escarpa. — Venha aqui.
— Para quê? — perguntou Will ao se juntar ao irmão. Ele ficou pasmo ao vê-lo enfiar as mãos na lama de melaço que se estendia estagnada ali. Cal ergueu dois punhados de algas pretas e as esfregou na máscara e nas roupas. Depois pegou Bartleby pelo pescoço. O gato soltou um rosnado baixo e tentou se libertar, mas Cal o esfregou da cabeça ao rabo. Com a sujeira gotejando de sua pele nua, Bartleby arqueou as costas e tremeu, fuzilando o dono com os olhos.
— Meu Deus, o fedor agora está pior do que nunca. O que é que está fazendo? — perguntou Will, pensando que o irmão havia perdido o juízo.
— A Divisão usa cães farejadores por aqui. Se houver o menor cheiro da Colônia em nós, estaremos mortos. Este lodo ajudará a disfarçar nosso cheiro — disse ele, pegando novos punhados da vegetação enegrecida. — Sua vez. — Will suportou Cal embeber seu cabelo, o peito e os ombros, depois cada uma das pernas, nas algas fétidas.
— Como se pode sentir algum cheiro com isso? — perguntou Will colérico, olhando as manchas gordurosas em suas roupas. O fedor era excessivo. — Esses cães devem ter um olfato e tanto! — Ele fazia o máximo que podia para não ficar nauseado.
— Ah, e têm mesmo — disse Cal ao sacudir as mãos para se livrar das gavinhas, depois as limpou no casaco. — Precisamos sair de vista.
Andando em fila, eles passaram rapidamente por um trecho de chão pantanoso e entraram na cidade. Passaram sob um arco de pedra alto com duas caras malévolas de gárgula olhando com desprezo para eles, depois entraram num beco com paredes altas de cada lado. As dimensões dos prédios, as janelas boquiabertas, os arcos e portas eram imensos, como se tivessem sido construídos por seres incrivelmente altos. Por sugestão de Cal, eles entraram por uma destas aberturas, na base de uma torre quadrada.
Agora fora da luz verde, Will precisou do globo luminoso para examinar o mapa. Ao tirado de sob o casaco, ele iluminou a sala, uma câmara de pedra, com teto alto e vários centímetros de água no chão. Bartleby correu para um canto e, descobrindo uma pilha de alguma coisa podre, investigou-a brevemente antes de erguer uma pata sobre ela.
— Ei — disse Cal, de repente. — Olhe só as paredes.
Eles viram crânios — filas e mais filas de cabeças de mortos entalhadas cobriam as paredes, todas com um esgar cheio de dentes e olhos ocos e sombrios. Enquanto Will movia o globo, as sombras mudaram e os crânios pareceram estar encarando os dois.
— Meu pai ia adorar isso. Aposto que era uma...
— É horrível — interrompeu Cal, tremendo.
— Esse povo era bem mórbido, não é? — disse Will, incapaz de reprimir um sorriso largo.
— Os ancestrais dos Styx.
— Como é? — Will olhou para ele inquisitivamente.
— Os antepassados deles. As pessoas acreditam que um grupo fugiu desta cidade na época da Peste.
— Para onde?
— Para a Crosta — respondeu Cal. — Formaram uma espécie de sociedade secreta lá. Dizem que os Styx deram a idéia da Colônia a Sir Gabriel.
Will não teve a oportunidade de fazer mais perguntas a Cal, porque de repente as orelhas de Bartleby se eriçaram e seus olhos se fixaram sem piscar na porta. Embora nenhum dos meninos tenha ouvido nada, Cal ficou agitado.
— Vamos, rápido, verifique o mapa, Will.
Eles saíram da câmara, pegando cautelosamente o caminho pelas ruas antigas. Com isso, Will teve a oportunidade de examinar os prédios mais de perto. Em toda parte a pedra era ornamentada com entalhes e inscrições. E ele viu a decadência; a alvenaria esfarelava e tinha rachaduras. Gritava de abandono e negligência. E, no entanto, as construções ainda exibiam orgulhosamente toda sua magnificência — tinham uma aura de poder imenso. Poder, e mais alguma coisa — uma ameaça antiga e decadente. Era um alívio para Will saber que os habitantes da cidade não moravam mais aqui.
Ao seguirem pelas ruas de pedra antiga, suas botas espalhavam a água escura no chão e agitavam as algas, deixando manchas com um brilho fraco em sua esteira, como passadeiras luminosas. Bartleby ficou agitado com a água e saltitava por ela com a precisão de um pônei numa apresentação, tentando evitar que espirrasse nele.
Cruzando uma ponte de pedra estreita, Will parou brevemente e olhou por sobre a balaustrada marmórea e erodida, vendo o rio de correnteza lenta abaixo. Liso e oleoso, serpenteava preguiçosamente pela cidade, atravessado aqui e ali por outras pontes pequenas, as águas batendo túrgidas nas partes maciças de alvenaria que formavam as margens. Nelas, estátuas clássicas se destacavam como sentinelas da água: velhos de cabelos ondulados e barbas incrivelmente longas e mulheres de vestidos esvoaçantes estendiam para a água conchas e globos — ou apenas os tocos que-brados de seus braços — como se oferecessem sacrifícios a deuses que não existiam mais.
Eles chegaram a uma praça quadrada, cercada por construções imensas, mas evitaram entrar, refugiando-se atrás do parapeito baixo.
— O que é isso? — sussurrou Will. No meio da praça, erguia-se uma plataforma sustentada por uma gama de colunas grossas. No alto da plataforma, havia formas humanas: estátuas brancas como giz em poses retorcidas de agonia congelada, algumas com as feições destruídas e outras sem membros. Correntes enferrujadas cercavam as figuras retorcidas e os postes ao lado delas. Parecia a escultura de uma atrocidade esquecida.
— A Plataforma dos Condenados. Era ali que eles eram castigados.
— Esculturas medonhas — disse Will, incapaz de tirar os olhos delas.
— Não são esculturas, são gente de verdade. Tam disse que os corpos foram calcificados.
— Não! — disse Will, olhando com uma atenção ainda maior as figuras e desejando ter tempo para documentar a cena.
— Shhhhh — alertou Cal. Ele pegou Bartleby e o puxou para o peito. O gato esperneou, mas Cal não o deixou ir.
Will olhou para ele em dúvida.
— Abaixe-se — sussurrou Cal. Mergulhando para trás do parapeito, ele pôs a mão em concha sobre os olhos do gato e abraçou o animal com uma força ainda maior.
Depois de seguir seu exemplo, Will os viu. Na extremidade mais distante da praça, silenciosas como fantasmas, quatro figuras pareciam flutuar na superfície do chão alagado. Usavam máscaras respiratórias sobre a boca e óculos de proteção com lentes circulares e grandes que os deixavam parecidos com insetos humanos de pesadelo. Pela silhueta das figuras, Will percebeu que eram Styx. Usavam barretes e casacos longos de couro. Não os pretos lustrosos que Will vira na Colônia; estes eram foscos e camuflados com listras verdes e cinza de matiz clara e escura.
Com eficiência militar, eles avançavam em fila, enquanto um controlava um cão imenso trazido numa trela. O vapor soprava do focinho do animal incrivelmente grande e feroz — era diferente de qualquer cachorro que Will vira na vida.
Os meninos ficaram agachados atrás do parapeito com a consciência aguda de que não tinham para onde correr se os Styx aparecessem em seu caminho. O arfar áspero e o bufar do cão estavam ficando mais altos — Will e Cal se olharam, os dois pensando que a qualquer momento os Styx surgi-riam pela beira do parapeito. Eles inclinaram a cabeça, esforçando-se para pegar o menor som dos Styx se aproximando, mas só ouviram o gorgolejar baixo de água corrente e o bater ininterrupto da chuva na caverna.
Os olhos de Will e Cal se encontraram. Todos os sinais indicavam que os Styx tinham ido embora, mas o que eles deveriam fazer? Será que a patrulha se afastou, ou estava ali, numa emboscada para eles? Eles esperaram e, depois do que pareceu um século, Will deu um tapinha no ombro do irmão e apontou para cima, indicando que ia dar uma olhada.
Cal sacudiu a cabeça com vigor, os olhos cintilando de alarme atrás das lentes meio embaçadas; imploravam a Will para ficar parado. Mas Will o ignorou e ergueu a cabeça uma fração sobre o parapeito. Os Styx tinham desaparecido. Ele mostrou o polegar para cima e Cal levantou-se devagar para ver. Satisfeito que a patrulha tinha se afastado, Cal soltou Bartleby e ele disparou dali, sacudindo-se e olhando ressentido para os dois.
Eles contornaram com cuidado o lado da praça e escolheram uma rua na direção contrária à que os Styx haviam tomado. Will se sentia cada vez mais cansado e para ele era cada vez mais difícil tomar fôlego. Seus pulmões se agitavam como o de um asmático e uma dor surda tomou seu peito e as costelas. Ele reuniu toda a energia que tinha e os dois correram de uma sombra para outra até que os prédios haviam passado e a caverna estava diante deles. Will e Cal correram junto à parede por vários minutos, chegando a uma escada de pedra enorme entalhada na rocha.
— Essa foi por muito pouco. — Will ofegava, olhando par trás.
— Nem me fale — concordou Cal, depois olhou a escada. — É esta?
— Acho que sim. — Will deu de ombros. A esta altura, ele não ligava muito; só queria impor a maior distância possível entre eles e a Divisão Styx.
O pé da escada estava muito danificado por um pilar enorme que tinha caído e se espatifado di, e no início os meninos foram obrigados a escalar várias partes quebradas. Depois de chegarem aos degraus, não ficou muito melhor; estavam escorregadios de lodo preto e, mais de uma vez, quase perderam o pé. Subiam cada vez mais alto na escada e, esquecendo-se por um momento de como se sentia mal, Will parou para dar uma olhada, agora que estavam tão no alto. Pela neblina, ele viu um prédio encimado por um domo imenso.
— É a imagem cuspida e escarrada da catedral de St. Paul — bufou ele, recuperando o fôlego e olhando o magnífico telhado em abóbada ao longe. — Eu adoraria ver mais de perto — acrescentou ele.
— Deve estar brincando — respondeu Cal com severidade.
Eles continuaram e a escada por fim desapareceu em um arco irregular na parede rochosa. Will se virou para dar uma última olhada na estranheza esmeralda da Cidade Eterna mas, ao fazer isso, escorregou da beira do degrau, cambaleando para o abismo à frente dele. Por uma batida do coração, ele encarou a mera queda diante de si e gritou, pensando que estava prestes a mergulhar nela. Ele se agarrou freneticamente às gavinhas pretas que cobriam a parede. Punhado após punhado se rompeu, depois ele finalmente conseguiu se agarrar e se equilibrar novamente.
— Meu Jesus, você está bem? — disse Cal, agora a seu lado. Como Will não respondeu, ele ficou ainda mais preocupado. — Qual é o problema?
— Eu... eu só fiquei tonto — admitiu Will numa voz ofegante. Estava arfando em lufadas curtas e superficiais, era como se respirasse através de um canudinho entupido. Ele subiu alguns degraus, mas teve que parar novamente ao irromper em um acesso torturante de tosse. Will pensou que a crise jamais pararia. Curvado, ele tossiu e depois cuspiu. Comprimiu a testa, ensopada de chuva e pegajosa de um suor frio e insalubre, e entendeu que não podia mais esconder seu estado do irmão.
— Preciso descansar — disse ele, rouco, usando Cal para se apoiar enquanto a tosse diminuía.
— Agora não — disse Cal com urgência — e não aqui. — Pegando o braço de Will, ele o ajudou a passar pelo arco e entrar na escada sombria mais adiante.
Capítulo Trinta e Dois
Há um ponto em que o corpo se esgota, quando os músculos e nervos não têm mais nada a dar, quando só o que resta é seu brio, sua recusa em ceder.
Will chegara a este ponto. O corpo parecia drenado e inútil, mas ele ainda caminhava, impelido pela responsabilidade que sentia pelo irmão e seu dever de colocá-lo em segurança. Ao mesmo tempo, era corroído pela culpa insuportável por ter abandonado Chester para que caísse pela segunda vez nas mãos dos colonos.
Sou um inútil, uma porcaria imprestável. As palavras davam voltas na mente de Will, sem parar. Mas nem ele nem o irmão ralavam ao subir, mourejando pela interminável escada em espiral. Nos limites de sua resistência, Will se obrigava a avançar, passo após passo doloroso, degrau após degrau, as coxas ardendo tanto quanto os pulmões. Escorregando e derrapando nos lances de pedra ensopados de água e nos fiapos de alga grudados neles, ele lutou para reprimir a percepção pavorosa do que ainda tinham a andar.
— Gostaria de parar agora — ele ouviu Cal arfar.
— Não posso... não acho... que vá poder... recomeçar — grunhiu Will no ritmo de seus passos laboriosos.
As horas excruciantes se arrastavam, até que ele perdeu a noção do tempo em que estiveram subindo e nada no mundo existia ou importava para ele a não ser a idéia horrível de que tinha que dar o passo seguinte, e o seguinte, e assim por diante... E justo quando pensou ter chegado a seus limites e não podia mais seguir em frente, Will sentiu uma brisa muito fraca no rosto. Por instinto, soube que era ar puro. Ele parou e inspirou o frescor, esperando que o ar erguesse o peso de chumbo de seu peito e aliviasse o matraquear interminável dos pulmões.
— Não precisa mais disso — disse ele, apontando a máscara de Cal. Cal a retirou da cabeça e a enfiou no cinto, o suor escorrendo pelo rosto em re-gatos e os olhos margeados de vermelho.
— Ufa — ele expirou. — É meio quente debaixo dessa coisa.
Reassumiram a subida, e logo os degraus terminaram e eles entraram em uma série de passagens estreitas. De vez em quando eram obrigados a lutar com uma escada de ferro enferrujado, as mãos ficando laranja ao testarem cada degrau precário.
Por fim chegaram a uma saliência bem íngreme, de pouco mais de um metro de largura. Eles se arrastaram para cima de sua superfície deformada usando a corda grossa com nós que descobriram pendurada ali (Cal tinha certeza de que tio Tam a havia preparado). Mão após mão eles continuaram, os pés encontrando apoio nas rachaduras rasas e falhas. A inclinação tornava-se cada vez mais íngreme e eles passaram o diabo para conseguir subir o trecho restante de pedra coberta de limo. Mas, apesar de perder o pé algumas vezes, enfim chegaram ao topo, içando-se para uma câmara circular. Ali havia uma pequena abertura no chão. Curvando-se para ela, Will pôde ver os restos de uma grade de ferro, há muito enferrujada.
— O que tem aí embaixo? — Cal ofegava.
— Nada, não consigo ver droga nenhuma — disse Will desesperado, agachando-se sobre as coxas. Ele limpou o suor do rosto com as mãos ásperas. — Precisamos fazer o que Tam disse. Vamos descer.
Cal olhou para trás e depois para o irmão, assentindo. Por vários minutos, nenhum dos dois fez movimento algum, imobilizados pela fadiga.
— Bom, não podemos ficar aqui para sempre — Will suspirou. Ele passou as pernas pela abertura e, com as costas apoiadas em um lado e os pés firmes no outro, começou a descer.
— E o gato? — gritou Will depois de ter percorrido uma curta distância. — Será que vai conseguir lidar com isso?
— Não se preocupe com ele. — Cal sorriu. — O que quer que a gente faça...
Will não ouviu o resto da frase. Ele escorregou. As laterais da abertura passaram voando e ele caiu com um espadanar — estava submerso num frio gelado. Ele bateu os braços, depois os pés encontraram o fundo e ele ficou de pé, soprando um pouco do líquido enregelante. Descobriu que estava com água até o peito e, depois de limpar os olhos e empurrar o cabelo para trás, olhou em volta. Não podia ter certeza, mas parecia haver uma luz fraca ao longe.
Ele ouviu os gritos frenéticos de Cal acima.
— Will! Will! Está tudo bem?
— Foi só um mergulho rápido! — gritou Will, com uma risada fraca. — Fique aí, vou dar uma olhada numa coisa. — Sua exaustão e desconforto foram ignorados no momento em que ele viu o brilho tênue, tentando distinguir os fracos pormenores do que havia à frente. Completamente ensopado, ele saiu da poça e, andando sob o teto baixo, rastejou lentamente para a luz. Depois de algumas centenas de metros, pôde ver claramente a boca circular do túnel e, com o coração disparado, acelerou para lá. Caindo mais de um metro de uma saliência que ele não percebera, ele pousou rudemente, vendo-se debaixo de uma espécie de píer. Por uma floresta de postes de madeira pesada orlada de algas, ele pôde ver os reflexos raiados de luz na água.
O cascalho foi esmagado sob seus pés enquanto ele entrava na abertura. Ele sentiu o frio revigorante do vento no rosto. Respirou fundo, puxando o ar fresco com os pulmões doloridos. Era tão doce. Devagar, ele avaliou os arredores.
Noite. As luzes eram refletidas em um rio diante dele. Era um rio largo. Um barco de passeio com dois deques passou com um barulho de descarga — lampejos brilhantes de cor pulsavam de seus dois conveses enquanto uma música dançante e indistinta fazia a água vibrar. Depois ele viu as pontes ao lado e, ao longe, o domo banhado de luz da catedral de St. Paul. A St. Paul que ele conhecia. Um ônibus vermelho de dois andares atravessou a ponte perto dele. Não era nenhum rio antigo. Ele se sentou na margem com surpresa e alívio.
Era o Tâmisa.
Will se deitou de costas na margem e fechou os olhos, ouvindo o tumulto monótono do trânsito. Tentou se lembrar dos nomes das pontes, mas ele não ligava - tinha saído, tinha escapado e nada mais importava. Ele conseguira. Estava em casa. De volta a seu próprio mundo.
— O céu — disse Cal, pasmo. — Então é assim. — Will abriu os olhos e viu o irmão esticando o pescoço de um lado para outro, enquanto encarava os fiapos esparsos de nuvens pegos na radiação âmbar das luzes de rua. Embora Cal estivesse ensopado de sua imersão na poça, trazia um sorriso largo, mas depois ele franziu o nariz. — Ui, mas o que é isso? — perguntou ele em voz alta.
— O que quer dizer? — disse Will.
— Todos esses cheiros!
Will se apoiou no cotovelo e cheirou.
— Que cheiros?
— Comida... todo tipo de comida... e... — Cal fez uma careta. — Esgoto... um monte dele... e substâncias químicas...
Ao farejar o ar, pensando novamente em como era fresco, ocorreu a Will que ele não pensou no que iam fazer a seguir. Para onde iriam? Ele ficou tão concentrado na fuga que não pensou um segundo sequer no que viria depois. Ele se levantou e examinou as roupas encharcadas e sujas de colono e as do irmão, e o gato impossivelmente grande que agora fuçava pela margem como um porco procurando por trufas. Um vento vigoroso de inverno soprava e ele estremeceu violentamente, batendo os dentes. Ocorreu-lhe que nem o irmão nem Bartleby, em sua vida subterrânea e protegida, tinham vivido os extremos do clima da Crosta. Ele precisava fazê-los andar. E rápido. Mas não tinha dinheiro algum, nem um centavo.
— Vamos ter que ir a pé para casa.
— Tudo bem — respondeu Cal sem questionar, a cabeça para trás, olhando as estrelas, perdendo-se no dossel do firmamento. — Até que enfim eu as vejo — sussurrou ele consigo mesmo.
Um helicóptero vagou no horizonte.
— Por que essa está se mexendo? — perguntou ele.
Will estava cansado demais para explicar.
— Elas fazem isso — disse ele num tom monocórdio.
Eles partiram, mantendo-se próximos da margem para não serem percebidos, e quase de imediato chegaram a um lance de escada que levava à calçada acima. Ficava ao lado de uma ponte. Will sabia aonde eles chegaram — era a ponte Blackfriars.
Um- portão bloqueava o alto da escada e, assim, eles escalaram apressadamente o muro largo para chegar à calçada. Pingando água no chão e congelando no ar da noite, eles olharam em volta. Will foi tomado pelo pensamento apavorante de que mesmo aqui os Styx podiam ter espiões de sobreaviso contra eles. Depois de ver um dos irmãos Clarke na Colônia, ele sentia que não podia confiar em ninguém e observou as poucas pessoas nas imediações com uma suspeita crescente. Mas não havia ninguém por perto, com exceção de um casal de jovens que andava de mãos dadas. Eles passaram pelos dois, tão envolvidos um com o outro que não deram a menor atenção aos meninos ou ao gato imenso.
Com Will na liderança, eles subiram a escada para a ponte. Ao chegar no alto, Will percebeu que o cinema IMAX ficava à sua direita. De imediato entendeu que não devia estar deste lado do rio. Para ele, Londres era um mosaico de lugares que ele conhecera pelas visitas a museus com o pai ou nas excursões da escola. O resto, as áreas que se interconectavam, eram um completo mistério. Só havia uma coisa a fazer: confiar em seu senso de direção e tentar ir para o norte.
Ao virarem à esquerda e rapidamente atravessarem a ponte, Will localizou uma placa para King’s Cross e logo soube que estavam indo na direção certa. O trânsito passava por eles ao chegarem ao final da ponte e Will parou para olhar Cal e o gato sob luz dos postes. Mas era sem dúvida um trio de almas penadas de aparência suspeita — eles se destacavam a um quilômetro. Embora estivesse escuro, Will estava dolorosamente ciente de que dois meninos totalmente ensopados andando pelas ruas de Londres a esta hora da noite, com ou sem um gato gigante, deviam chamar atenção, e a última coisa de que precisava agora era ser pego pela polícia. Ele tentou preparar uma história, ensaiando-a em sua mente, para o caso de isto acontecer.
Ora, ora, ora, disse a dupla de policiais fictícios. O que é que temos aqui, hein?
É... só estamos levando para passear o... o... A resposta imaginada de Will chegou a uma interrupção hesitante. Não, isso não daria certo, ele precisava se preparar melhor. Ele recomeçou: Boa-noite, policiais. Só estamos levando o bicho do vizinho para passear.
O primeiro policial inclinou-se com curiosidade para examinar Bartleby, os olhos se estreitando ao fazer uma careta de repulsa. Me parece perigoso, filho. Ele não deveria estar com uma trela?
O que é isto, exatamente?, intrometeu-se o segundo policial imaginário.
É um... começou Will. O que ele diria? Ah, sim... É um híbrido muito raro, um cruzamento de gato com cachorro chamado... chamado... gatorro, informou-lhes Will, todo prestativo.
Ou quem sabe um cachato?, sugeriu o segundo policial secamente, o brilho nos olhos dizendo a Will que ele não estava engolindo uma palavra daquilo.
Seja lá o que for, é danado de feio, disse o parceiro.
Shhhh! Vai ferir os sentimentos dele.
De repente Will percebeu que estava perdendo tempo com tudo isso. A realidade era que os policiais simplesmente perguntariam seus nomes e endereços e verificariam pelo rádio. E eles provavelmente se dariam mal mesmo que tentassem dar nomes falsos. Então seria assim. Eles seriam levados à delegacia e detidos lá. Will desconfiava de que devia ser procurado pelo seqüestro de Chester, ou coisa igualmente ridícula, e era provável que terminasse numa instituição para delinqüentes juvenis. Já no caso de Cal, ele seria um enigma completo — é claro que não haveria registro nenhum dele, nenhuma identidade na Crosta. Não, eles precisavam evitar a polícia a todo custo.
Perversamente, enquanto pensava no futuro, havia uma parte dele que quase queria que eles fossem detidos. Isso eliminaria o fardo pavoroso que no momento esmagava seus ombros; ele olhou a figura agachada do irmão. Cal era um estranho, uma anomalia neste lugar frio e nada hospitaleiro, e Will não fazia idéia de como ia protegê-lo.
Mas o garoto sabia que se procurasse as autoridades e tentasse fazer com que investigassem a Colônia — isso, antes de tudo, se eles acreditassem num adolescente foragido — ele arriscaria a vida de incontáveis pessoas, a vida de sua família. Quem sabe como terminaria? Ele estremeceu ao pensar na Revelação, como a vovó Macaulay chamou, e tentou imaginá-la sendo levada para a luz do dia depois de sua longa vida nos subterrâneos. Não podia fazer isso com ela — não conseguia nem suportar a idéia. Era uma decisão grande demais para ele tomar sozinho e Will se sentiu terrivelmente só e isolado.
Ele puxou o casaco molhado em torno do corpo, e apressou Cal e Bartleby para o metrô no final da ponte.
— Tem muito urina aqui embaixo — comentou o irmão. — Todas as pessoas da Crosta marcam seus territórios? — Ele se virou para Will inquisitivamente.
— É... nem todas. Mas esta é Londres.
Enquanto eles saíam do metrô e voltavam à calçada, Cal pareceu ficar confuso com o trânsito, olhando de um lado a outro. Chegando a uma rua principal, eles pararam junto ao meio-fio. Will pegou a manga da camisa do irmão com uma das mãos e o pescoço sem pêlos do gato com a outra. Atravessando quando houve um intervalo, eles chegaram ao canteiro central. Podiam ver pessoas olhando curiosas para eles dos carros que passavam, e uma van branca reduziu e quase parou bem ao lado do trio, o motorista falando excitado ao celular. Para alívio de Will, ela acelerou novamente. Eles atravessaram as duas pistas restantes e, depois de uma curta distância, Will os conduziu a uma rua lateral mal iluminada. O irmão parou com uma das mãos na parede de tijolinhos — parecia totalmente desorientado, como um cego em um lugar desconhecido.
— Que ar abominável! — disse ele com veemência.
— É só escapamento de carro — respondeu Will ao desamarrar o barbante grosso do globo luminoso e improvisar uma trela para o gato, que não pareceu se incomodar nem um pouco.
— Tem um cheiro forte. Devia ser contra a lei — disse Cal com completa convicção.
— Receio que não é — respondeu Will enquanto os levava pela rua. Ele queria evitar a rua principal e se manter ao máximo nas secundárias, embora isso tornasse sua jornada ainda mais difícil e tortuosa.
E assim começou a longa marcha para o norte. Ao saírem do centro de Londres, eles só viram um carro da polícia, mas Will conseguiu levá-los para um canto bem a tempo.
— Eles são como os Styx? — perguntou Cd.
— Nem tanto — respondeu Will.
Com o gato de um lado e Cal do outro, retorcendo-se, nervoso, eles caminharam. De vez em quando, o irmão parava de súbito, como se portas invisíveis estivessem sendo batidas na cara dele.
— Que foi? — perguntou Will em uma destas ocasiões, quando o irmão se recusou a se mexer.
— Parece... raiva... e medo — disse Cal numa voz tensa ao olhar nervosamente as janelas nos altos de uma loja. — É tão forte. Não gosto disso.
— Não estou vendo nada — disse Will, que não conseguiu distinguir o que perturbava o irmão. Eram só janelas comuns, com uma lasca de luz aparecendo entre as cortinas de uma delas. — Não é nada, é só imaginação sua.
— Não é, não. Posso sentir o cheiro — disse Cal enfaticamente. — E está ficando mais forte. Quero ir embora daqui.
Depois de vários quilômetros tortuosos, esgueirando-se como se estivessem fugindo, eles chegaram ao cume de um morro, em cujo sopé havia uma rua principal movimentada, com seis pistas de trânsito acelerado.
— Estou reconhecendo isso... agora não está longe. Talvez mais alguns quilômetros, e acabou — disse Will com alívio.
— Não vou chegar perto disso. Não posso... não com esse fedor. Vai nos matar — disse Cal, afastando-se de Will.
— Não seja tão idiota — disse Will. Ele estava cansado demais para ouvir esses absurdos e sua frustração agora se transformou em raiva. — Estamos tão perto.
— Não — disse Cal, cravando os calcanhares. — Eu vou ficar bem aqui.
Will tentou puxar o braço do menino, mas ele o afastou num safanão. Will pelejava com sua exaustão há quilômetros e ainda tinha dificuldade para respirar; não precisava disso. De repente, foi demais para ele. Pensou que ia de fato desabar e chorar. Não era justo. Imaginou a casa e sua cama limpa e acolhedora. Só o que queria fazer era se deitar e dormir. Mesmo enquanto andava, seu corpo ia se afrouxando, como se estivesse caindo em um buraco, num lugar onde tudo era reconfortante e quente. Então ele se sacudia do devaneio, novamente desperto, e instava a si mesmo a continuar.
— Tudo bem! — cuspiu Will. — Então, se vira! — Ele partiu morro abaixo, puxando Bartleby pela trela.
Ao chegar à rua, Will ouviu a voz do irmão por sobre o alarido do trânsito.
— Will — gritou ele. — Espere por mim! Desculpe!
Cal desceu correndo o morro — Will podia ver que ele estava genuinamente apavorado. Ele sacudia a cabeça para olhar em volta, como se estivesse prestes a ser atacado por um assassino imaginário.
Eles atravessaram a rua no sinal, mas Cal insistiu em colocar a mão na boca até que estivessem a uma boa distância da rua.
— Não consigo suportar isso — disse ele com uma carranca. — Eu gostava da idéia dos carros quando estava na Colônia... Mas os folhetos não falavam nada do cheiro que eles tinham.
— Tem fogo?
Assustados com a voz, eles se viraram. Tinham parado para descansar por um minuto e, como se surgisse do nada, um homem estava bem atrás deles com um sorriso torto na cara Não era terrivelmente alto, mas era bem vestido, com um terno azul-escuro ajustado, camisa e gravata. Tinha cabelo preto e comprido, que ele ficava afagando nas têmporas e enfiando atrás das orelhas, como se o incomodasse. — Deixei meu isqueiro em casa — continuou o homem, a voz grave e penetrante.
— Desculpe, não fumamos — respondeu Will, afastando-se rapidamente. Havia alguma coisa forçada e espalhafatosa no sorriso do homem e sinos de alarme tocaram na cabeça de Will.
— Vocês estão bem, meninos? Parecem arrasados. Tenho um lugar em que podem se aquecer. Não fica longe daqui — disse o homem de forma insinuante. — Pode levar seu cachorro também, é claro. — Ele estendeu a mão para Cal e Will viu que os dedos eram manchados de nicotina e as unhas eram pretas de sujeira.
— Podemos ir mesmo? — disse Cal, retribuindo o sorriso do homem.
— Não... é muita gentileza sua, mas... — Will interrompeu, olhando o irmão sem conseguir chamar sua atenção. O homem deu um passo para Cal e se dirigiu a ele, ignorando completamente Will, como se ele não estivesse ali.
— Uma comida quente também? — ofereceu ele.
Cal estava a ponto de responder quando Will falou.
— Precisamos ir, nossos pais estão esperando por nós bem ali. Vamos, Cal — disse ele, um tom de urgência rastejando em sua voz. Cal olhou perplexo para Will, que sacudiu a cabeça, o cenho franzido. Percebendo que havia alguma coisa errada, Cal seguiu ao lado do irmão.
— Que pena, quem sabe na próxima? — disse o homem, os olhos ainda fixos em Cal. Ele não fez nenhum movimento para segui-los, mas pegou um isqueiro no bolso do paletó e acendeu um cigarro. — A gente se vê! — gritou ele às costas dos dois.
— Não olhe para trás — sibilou Will entre dentes enquanto andava a passo acelerado com Cal a reboque. — Não se atreva a olhar para trás.
Uma hora depois eles chegaram a Highfield. Will evitou a High Street para não ser reconhecido, pegando as ruas de trás e as transversais até que entraram na Avenida Broadlands.
Ali estava. A casa, completamente escura, com uma placa de imobiliária no jardim. Will os levou para o lado e sob a garagem aberta no quintal. Ele chutou o topo de um tijolo, onde sempre ficava escondida uma chave extra da porta dos fundos, e murmurou uma oração silenciosa de gratidão quando viu que ainda estava ali. Ele abriu a porta e deu alguns passos cautelosos para dentro do hall escuro.
— Colonos! — disse Cal de pronto, recuando enquanto continuava a cheirar o ar. — Eles estiveram aqui... E não faz muito tempo.
— Pelo amor de Deus. — Para Will, a casa só tinha o cheiro meio bolorento de desocupada, mas ele não se incomodou em discutir. Sem querer alertar os vizinhos, deixou as luzes apagadas e usou o globo luminoso para verificar cada cômodo, enquanto Cal continuava no hall, os sentidos trabalhando o tempo todo.
— Não tem nada... não há ninguém aqui. Satisfeito? — disse Will ao voltar ao térreo. Com alguma consternação, o irmão avançou pela casa com Bartleby nos calcanhares, e Will fechou e trancou a porta. Ele os conduziu para a sala e, certificando-se de que as cortinas estavam bem fechadas, ligou a televisão. Depois foi até a cozinha.
A geladeira estava completamente vazia, a não ser por um tablete de margarina e um tomate velho, que estava mofado e murcho. Por um momento, Will olhou sem compreender as prateleiras nuas. Para ele, isto não tinha precedentes, confirmando a que ponto as coisas tinham chegado. Ele suspirou ao fechar a porta e viu uma tira de papel colada ali. Era a letra precisa de Rebecca, uma das listas de compras que ela fazia.
Rebecca! A fúria de repente o dominou. A idéia daquela impostora mascarada de irmã por todos aqueles anos deixou-o rígido de raiva. Ela mudara tudo. Agora ele nem podia pensar em voltar à vida confortável e previsível que levava antes de o pai desaparecer, porque ela estava lá, vigiando e espionando... Sua presença maculava todas as lembranças que tinha. A traição de Rebecca era do pior tipo: ela era um Judas enviado pelos Styx.
— Vaca! — gritou ele, arrancando a lista, amassando-a e atirando-a no chão.
Ela caiu no piso de linóleo impecável que Rebecca esfregava semana sim, semana não, com uma regularidade perturbadora. Will olhou o relógio de parede e suspirou. Foi até a pia e encheu copos de água para ele e Cal, e uma tigela para Bartleby, depois voltou à sala. Cal e o gato já estavam enrascados, dormindo no sofá, o menino com a cabeça pousada sonolenta no braço. Ele viu que os dois estavam tremendo, então pegou cobertores nas camas no segundo andar e colocou-os sobre seus corpos adormecidos. A casa não tinha aquecimento central e estava fria, mas não tão fria assim. Will chegou à conclusão de que só não estavam acostumados a temperaturas tão mais baixas e fez uma anotação mental para escolher uma roupa quente para eles pela manhã.
Will bebeu a água rapidamente e sentou-se na poltrona da mãe, enrolando-se na manta de viagem dela. Seus olhos mal registraram as acrobacias de snowboarding que desafiavam a morte na televisão enquanto ele se enroscava, precisamente como a mãe fizera por tantos anos, e caía no mais profundo dos sonos.
Capítulo Trinta e Três
Tam postava-se em silêncio e desafiador. Estava decidido a não demonstrar nenhum sinal de apreensão enquanto ele e o sr. Jerome esperavam de frente para a mesa comprida, as mãos fechadas às costas como soldados de prontidão.
Atrás da mesa de carvalho muito polido sentava-se a Panóplia. Estes eram os membros mais antigos e mais poderosos do Conselho Styx. Em cada cabeceira da mesa sentavam-se alguns colonos de alta hierarquia: representantes do Conselho de Governadores, homens que o sr. Jerome conhecia a vida toda, homens que eram seus amigos. Ele grasnou de vergonha ao sentir a desgraça que se abatera sobre ele e não teve coragem de olhar para os demais. Nunca pensou que chegaria a esse ponto.
Tam estava menos intimidado; já levara reprimendas antes e sempre conseguira se livrar por um triz. Embora as alegações fossem graves, ele sabia que seu álibi passara pelo escrutínio deles. Imago e seus homens se certificaram disso. Tam ficou olhando enquanto o Mosca conferenciava com um colega Styx e depois se recostou para falar com a criança Styx que estava meio oculta atrás do encosto alto da cadeira. Ora essa, isto era irregular. Em geral os filhos dos Styx ficavam bem fora de vista e afastados da Colônia; os recém-nascidos nunca eram vistos, ao passo que os descendentes mais velhos, segundo diziam, eram trancafiados com seus mestres na atmosfera rarefeita de suas escolas privativas. Ele nunca ouvira falar de nenhum deles acompanhando os mais velhos em público, que dirá presente em reuniões como esta.
Os pensamentos de Tam foram interrompidos quando uma explosão áspera de debate intenso grassou na Panóplia. Sussurros em chinês ondulavam de uma ponta a outra e suas mãos magras se comunicavam numa série de gestos rudes. Tam olhou rapidamente o sr. Jerome, cuja cabeça estava baixa. Murmurava uma oração com o suor caindo de suas têmporas. Seu rosto estava inchado e a pele tinha um rosado pouco saudável. Tudo isso estava cobrando seu preço sobre ele.
A comoção cessou abruptamente entre assentimentos e curtas palavras de concordância, e os Styx se recostaram em suas cadeiras, um silêncio arrepiante caindo na sala. Tam se preparou. Estavam prestes a fazer um pronunciamento.
— Sr. Jerome — entoou o Styx à esquerda do Mosca. — Depois da devida consideração e de uma investigação completa e adequada — ele fixou as pupilas de conta no homem que tremia — permitiremos que o senhor vá embora.
Outro Styx prontamente assumiu.
— Parece que as injustiças que lhe foram incorridas por determinados membros de sua família, no passado e no presente, são infundadas e desventuradas. Sua honestidade não está em questão e sua reputação não foi maculada. A não ser que prefira depor para os autos, está incondicionalmente dispensado.
O sr. Jerome curvou-se pesaroso e se afastou da mesa. Tam ouviu suas botas raspando nas lajotas, mas não ousou se virar para vê-lo partir. Em vez disso, seu olhar se agitou pelo teto da sala de pedra, depois nas antigas pinturas penduradas na parede atrás da Panóplia, exibindo um retrato dos Pais Fundadores cavando um túnel perfeitamente redondo ao lado de uma colina verdejante.
Ele sabia que agora todos os olhos estavam nele.
Outro Styx falou. Tam de imediato reconheceu a voz do Mosca e foi obrigado a encarar o inimigo declarado. “Ele estava adorando cada minuto disto”, pensou Tam.
— Macaulay. Você está numa trapalhada diferente. Embora ainda não tenha sido comprovado, acreditamos que favoreceu e auxiliou seus sobrinhos, Seth e Caleb Jerome, em sua tentativa frustrada de libertar o garoto da Crosta Chester Rawls e depois escapar para a Cidade Eterna — disse o Mosca com um prazer evidente.
Um segundo Styx continuou.
— A Panóplia registrou sua alegação de inocência e seus protestos contínuos. — Com um único aceno condenatório de cabeça, ele se calou por um momento. — Analisamos as evidências submetidas em sua defesa, mas a esta altura somos incapazes de chegar a uma resolução. De acordo com isto, decretamos que a investigação permanecerá em aberto, o senhor será encarcerado e seus privilégios serão revogados até segunda ordem. Compreendeu?
Tam assentiu sombriamente.
— Repetimos, você compreendeu? — disse a criança Styx, avançando um passo.
Um sorriso cruel apareceu no rosto de Rebecca enquanto seu olhar gelado perfurava Tam. Houve uma agitação de pasmo silencioso dos colonos pelo fato de uma menor ter ousado falar, mas nem a mais leve indicação dos Styx de que estava havendo algo fora do normal.
Dizer que Tam ficou hesitante seria muito pouco. Deveria ele responder a uma mera criança? Como ele não respondeu de imediato, ela repetiu a pergunta, a vozinha severa afiada como uma chicotada.
— REPETIMOS, VOCÊ COMPREENDEU?
— Compreendi — murmurou Tam-—, compreendi muito bem.
É claro que isto não era de forma alguma uma decisão final, mas significava que ele viveria no limbo até que eles decidissem que ele estava limpo, ou... bem... ele não suportava pensar na alternativa.
Enquanto um carrancudo policial colono o conduzia para fora, ele não pôde deixar de perceber o olhar astuto de felicitação que foi trocado entre Rebecca e o Mosca.
“Mas que surpresa!”, pensou Tam. “É a filha dele!”
Arrancado do sono pelo estrondo da televisão, Will se sentou assustado na poltrona. Automaticamente pegou o controle remoto e abaixou um pouco o volume; foi só então que olhou em volta, percebeu plenamente onde estava e se lembrou de como chegara lá. Estava em casa, numa sala que conhecia tão bem. Embora estivesse cercado pela incerteza sobre o que iria acontecer, pela primeira vez em muito tempo sentia que tinha algum controle de seu destino, e isso era bom.
Ele flexionou os membros enrijecidos e respirou fundo várias vezes, tossindo bruscamente. Apesar do fato de estar faminto, sentia-se um pouco melhor do que no dia anterior; o sono lhe fizera algum bem. Ele se coçou, depois puxou vagamente o cabelo embaraçado, a brancura de sempre descolorida de poeira. Cambaleando para fora da poltrona, foi até as cortinas e as abriu alguns centímetros para que o sol da manhã entrasse na sala. Uma luz de verdade. Era uma visão tão bem-vinda que ele abriu ainda mais as cortinas.
— Forte demais! — guinchava Cal repetidamente, enterrando a cara em uma almofada. Bartleby, acordado pelos gritos de Cal, abriu os olhos trêmulos. De imediato recuou do brilho, as pernas compridas impelindo-o para trás enquanto ele se jogava atrás do sofá. Ali ele ficou, escondido da luz e soltando grunhidos em algum ponto entre um silvo e um miado baixo.
— Ah, meu Deus, me desculpe — gaguejou Will, xingando-se ao fechar as cortinas às pressas. — Eu me esqueci completamente.
Ele ajudou o irmão a se sentar direito. Ele gemia baixinho atrás da almofada e Will pôde ver que ela já estava ensopada de lágrimas. O garoto se perguntou se os olhos de Cal e Bartleby um dia se adaptariam à luz natural. Era só mais um problema que ele teria que resolver.
— Isso foi tão idiota — disse ele, desamparado. — Eu vou... é... vou arrumar uns óculos escuros para você.
Ele começou a procurar numa cômoda no quarto dos pais e descobriu que estava vazia. Ao verificar a última gaveta, pegou um sachê de lavanda estendido no papel de presente de Natal barato que a mãe usava como forro e o ergueu para sentir o aroma familiar. Ele fechou os olhos enquanto o cheiro conjurava uma imagem vivida da mãe. Aonde quer que a tivessem enviado para se recuperar, agora ela devia estar mandando nos outros pacientes. Ele podia apostar que ela tomara posse da melhor poltrona na sala de televisão e tinha convencido alguém a lhe trazer xícaras regulares de chá. Ele sorriu. De certa forma, ela devia estar mais feliz agora do que foi durante anos. E talvez também um pouco mais segura, se os Styx decidissem fazer uma visita.
Sem motivo especial, enquanto vasculhava a mesa-de-cabeceira, ele pensou em sua mãe verdadeira. Perguntou-se onde ela estava neste momento, se ainda estivesse viva. A única pessoa na longa história da Colônia a fugir dos Styx e sobreviver. Ele trincou os dentes com um olhar decidido ao ver seu reflexo no espelho. Bem, agora haveria mais dois Jerome com essa distinção.
Numa prateleira alta no guarda-roupa da mãe, ele encontrou o que procurava, um par de óculos de sol de plástico curvo que ela usava nas raras ocasiões em que se aventurava a sair no verão. Ele voltou até Cal, que semicerrava os olhos para a televisão na sala escurecida e estava completamente absorto no programa de entrevistas do meio da manhã em que uma apresentadora obsequiosa e de bronzeado permanente, jorrando sinceridade, reconfortava a mãe inconsolável de um adolescente viciado em drogas. Os olhos de Cal estavam um pouco vermelhos e ainda molhado de lágrimas, mas ele nada disse e na verdade não os desviou nem uma vez da tela enquanto Will colocava os óculos em sua cabeça, passando um elástico nas hastes para mantê-los firme no lugar.
— Melhor assim? — perguntou Will.
— Sim, muito melhor — disse Cal, ajeitando os óculos. — Mas estou com muita fome — acrescentou ele, afagando a barriga. — E estou com tanto frio. — Ele batia os dentes dramaticamente.
— Primeiro um chuveiro. Isso vai aquecer você — disse enquanto erguia o braço para experimentar o odor acumulado do suor de muitos dias. — E umas roupas limpas.
— Chuveiro? — Cal o olhou inexpressivamente através das lentes dos óculos escuros.
Will conseguiu ligar o aquecedor e foi o primeiro, a água quente pinicando a pele com um alívio doloroso enquanto nuvens de vapor o envolviam num êxtase de esquecimento. Depois foi a vez de Cal. Will mostrou ao irmão fascinado como funcionava o potente chuveiro e o deixou entrar. No guarda-roupa de seu quarto, pegou mudas de roupa limpas para ele e para Cal, embora as do irmão precisassem de um pouco de ajuste para caber nele.
— Agora sou um menino da Crosta de verdade — anunciou Cal, admirando os jeans largos com as pernas enroladas e a camisa volumosa com dois suéteres por cima.
— É, bem na moda. — Will riu.
Bartleby foi mais problemático. Foi preciso muita persuasão de Cal até para fazer com que o animal trêmulo fosse à porta do banheiro, e depois eles tiveram que empurrá-lo pela traseira, como uma mula empacada, para que ele entrasse. Como se soubesse o que lhe estava reservado no cômodo vaporoso, ele pulou para fora e tentou se esconder debaixo da pia.
— Vamos, Bart, seu fedorento, para o banho! — ordenou Cal, finalmente perdendo a paciência, e o gato arrastou-se de má vontade para a banheira e olhou para eles com a expressão mais desprezível. Soltou um gemido baixo e gorgolejou quando a água bateu em sua pele frouxa e, decidindo que já bastava para ele, tentou sair arranhando o plástico da banheira com as patas. Mas com Will segurando-o, eles conseguiram terminar a tarefa, embora os três ficassem completamente encharcados no final do exercício.
Uma vez fora da banheira, Bartleby ricocheteou pelos quartos como um dervixe em pleno giro, enquanto Will tinha um enorme prazer em saquear o quarto de Rebecca. Ao atirar todas as suas roupas incrivelmente dobradas no chão, ele se perguntava como diabos ia descobrir alguma coisa que fosse remotamente adequada para vestir um gato. Mas, no final, umas polainas foram cortadas no tamanho das pernas traseiras do animal e um velho blusão roxo da Benetton cobriu a metade superior do corpo. Will encontrou uns óculos de sol do Pernalonga na bolsa de viagem de Rebecca e estes foram colocados na cabeça do gato depois que um gorro tibetano listrado de amarelo e preto foi puxado firmemente para baixo. Bartleby ficou bem esquisito com os novos trajes. Do patamar da escada, os dois irmãos recuaram para admirar a obra, explodindo prontamente em gargalhadas histéricas.
— E quem é o bonitão? — Cal balbuciou entre explosões de riso sem fôlego.
— Está mais bonito do que muita gente por aqui! — disse Will.
— Não se preocupe, Bart — disse Cal suavemente, afagando o dorso do animal irritado. — Está muito... é... admirável — ele conseguiu falar antes de os dois caírem mais uma vez numa gargalhada descontrolada. Por trás das lentes cor-de-rosa, o indignado Bartleby os fitava de lado com os olhos grandes.
Felizmente, Rebecca, por mais que Will a xingasse, deixara o freezer bem abastecido na despensa. Ele leu as instruções do microondas e aqueceu três refeições completas de carne, com bolinhos e feijão-fradinho. Eles as comeram na cozinha, Bartleby de pé com as patas na mesa, a língua raspando o prato de estanho, e devorando faminto cada pedaço de carne. Cal pensou que esta era a melhor coisa que tinha comido na vida, mas afirmou que ainda estava com fome, então Will pegou mais três refeições no freezer. Desta vez, eles comeram porco com batatas assadas. Empurraram a comida para dentro com uma garrafa de Coca-Cola, que provocou ataques de êxtase em Cal.
— E agora? — disse ele, por fim, acompanhando com o dedo as bolhas que subiam pelo copo de vidro.
— Por que toda essa pressa? Vamos ficar bem por algum tempo — respondeu Will. Ele esperava que os dois pudessem ficar enfiados ali, mesmo que por alguns dias, para ele ter tempo de pensar no movimento seguinte.
— Os Styx sabem deste lugar... alguém já esteve aqui e eles vão voltar. Não se esqueça do que o tio Tam disse. Não há com nós ficarmos aqui.
— Acho que sim — concordou Will com relutância — e podemos ser vistos pelos corretores da imobiliária, se mostrarem a casa a alguém. — Ele olhou de um jeito desfocado para a cortina de renda acima da pia e falou decidido. — Mas ainda temos que tirar o Chester de lá.
O irmão o olhou espantado.
— Quer dizer voltar? Não posso voltar, não agora, Will. Os Styx fariam coisas horríveis comigo.
Cal não era o único a temer a volta ao subterrâneo. Will mal conseguia conter o pavor com a perspectiva de voltar a enfrentar os Styx. Sentia como se tivesse pressionado sua sorte ao máximo possível e era pura maluquice imaginar que podia fazer alguma tentativa de resgate audaz.
Por outro lado, o que iam fazer se continuassem na Crosta? Fugir o tempo todo? Quando pensava bem no assunto, simplesmente não era realista. Mais cedo ou mais tarde eles seriam detidos pela polícia, e ele e Cal provavelmente seriam separados e colocados em orfanatos. Pior do que isso, ele passaria o resto da vida sob a sombra da morte de Chester, sabendo, além de tudo, que podia ter se unido ao pai em uma das maiores aventuras do século.
— Eu não quero morrer — disse Cal numa voz fraca. — Não desse jeito. — Ele afastou os óculos e olhou suplicante para Will.
A situação não estava melhorando. Will não podia lidar com mais pressão ainda. Ele sacudiu a cabeça.
— O que devo fazer? Não posso deixar Chester lá. Não posso. E não vou.
Mais tarde, enquanto Cal e Bartleby vadiavam diante da televisão vendo programas infantis e comendo fritas, Will não conseguiu resistir a uma ida ao porão. Exatamente como esperava, quando ele puxou a estante, não havia nenhum vestígio do túnel — eles tiveram o trabalho até de colocar uma nova camada de tijolos para se misturar com o resto da parede. Ele sabia que por trás haveria o preenchimento habitual de pedra e terra. Eles fizeram bem o trabalho. Não tinha sentido perder mais tempo ali.
De volta à cozinha, ele se equilibrou num banco enquanto vasculhava vidros no alto dos armários. Descobriu o dinheiro do vídeo da mãe num pote de porcelana para mel — havia umas 20 libras em moedas.
Ele estava no corredor, a caminho da sala de estar, quando começou a ver pontinhos de luz dançando em seus olhos e em todo seu corpo surgiu um formigamento de calor. Depois, sem aviso algum, suas pernas cederam. Ele largou o vidro, que bateu na beirada da mesa do corredor e se estatelou, espalhando as moedas no chão. Era como se ele estivesse em câmera lenta ao desmaiar, uma dor feroz ardendo em sua cabeça até que tudo ficou preto e ele perdeu a consciência.
Cal e Bartleby vieram correndo da sala ao ouvir barulho.
— Will! O que foi? — gritou Cal, ajoelhando-se ao lado dele.
Will voltou a si devagar, as têmporas latejando dolorosamente.
— Não sei — disse ele com a voz fraca. — Só ficou esquisito de repente. — Ele começou a tossir e teve que prender a respiração para que a tosse parasse.
— Você está pegando fogo — disse Cal, sentindo a testa dele.
— Congelando... — Will mal conseguia falar com os dentes batendo. Fez um esforço para se levantar, mas não teve forças para isso.
— Ah, meu Deus — o rosto de Cal se vincou de preocupação —, pode ser alguma coisa da Cidade Eterna. A Peste!
Will ficou em silêncio enquanto o irmão o puxava para o pé da escada e apoiava sua cabeça nela. Ele pegou a manta de viagem e a colocou sobre Will. Depois de um tempo, Will pediu a Cal que fosse ao banheiro para pegar uma aspirina. Ele a tomou com um gole de Coca-Cola e, após um breve descanso, conseguiu se colocar de pé, trêmulo, com a ajuda de Cal.
Os olhos de Will ferviam e estavam desfocados, e sua voz tremia.
— Acho que vamos precisar de ajuda — disse ele, esfregando o suor da testa.
— Há algum lugar a que possamos ir? — perguntou Cal.
Will fungou, engoliu em seco e assentiu, a cabeça parecendo que ia explodir.
— Só consigo pensar em um lugar.
— Saia já daí! — berrou o Segundo Oficial na cela, a cabeça tão esticada para a frente que os tendões do pescoço grosso se destacavam arrogantes, como uma corda cheia de nós.
Das sombras vieram várias fungadelas enquanto Chester fazia o máximo para controlar o choro de pavor. Desde que fora recapturado e levado de volta ao Cárcere, o Segundo Oficial o vinha tratando com brutalidade. O homem se dedicava a tornar a vida de Chester um inferno, retendo suas refeições e acordando-o com um balde de água gelada na cabeça se por acaso ele cochilasse na saliência, ou gritando ameaças através da janelinha de inspeção. Tudo isso devia ter algo a ver com a atadura grossa em volta da cabeça do Segundo Oficial — o golpe de Will com a pá o nocauteara — e, o que era pior, quando ele voltou a si, os Styx passaram grande parte do dia interrogando-o sob a acusação de que ele fora negligente em seus deveres. Assim, dizer que agora o Segundo Oficial estava muito mais amargo e vingativo seria atenuar a verdade.
Chester, meio faminto e exausto a ponto de desmaiar, não tinha certeza de quanto mais desse tratamento poderia suportar Se a vida já estava difícil para ele antes da tentativa malograda de ruga, agora era muito pior.
— Não me faça entrar aí e pegar você! — gritou o Segundo Oficial. Antes que ele terminasse, Chester arrastou-se descalço para a luz fraca do corre-dor. Protegendo os olhos com uma das mãos, ele ergueu a cabeça. Estava suja de cinza, entranhada de terra, e a camisa estava rasgada.
— Sim, senhor — murmurou ele, subserviente.
— Os Styx querem vê-lo. Eles têm algo a lhe dizer — disse o Segundo Oficial, a voz distorcida de crueldade, depois começou a rir. — Algo que vai deixá-lo bom e correto. — Ele ainda estava rindo e, espontaneamente, Chester andou pelo corredor na direção da porta principal do Cárcere, as solas dos pés raspando lentamente as lajotas arenosas.
— Mexa-se! — disse o Segundo Oficial, batendo nas costas de Chester com o molho de chaves.
— Ai — reclamou Chester numa voz miserável.
Ao passarem pela porta principal, Chester precisou cobrir os olhos completamente, agora que não estava mais acostumado com a luz. Ele continuou a se arrastar, tomando um rumo que o faria passar pela mesa da recepção da delegacia se o Segundo Oficial não o detivesse.
— E aonde pensa que vai? Não acha que vai para casa, não é? — O homem começou a gargalhar e voltou a ficar mortalmente sério. — Não, entre à direita, no corredor, ande.
Chester, abaixando as mãos e tentando ver através dos olhos semicerrados, girou lentamente e ficou paralisado, enraizado no chão.
— A Luz Negra? — perguntou ele temeroso, sem se atrever a virar a cara para o Segundo Oficial.
— Não, já passamos desta fase. Agora receberá seu merecido castigo, seu borra-botas indigno.
Eles passaram por uma série de corredores, o Segundo Oficial acossando Chester com espetadas e empurrões, rindo consigo mesmo o tempo todo. Ele se aquietou quando viraram uma esquina e apareceu uma porta aberta. Dela, uma luz intensa jorrava para fora, iluminando a parede caiada do outro lado.
Embora os movimentos de Chester fossem lânguidos e sua expressão vazia, por dentro seus medos grassavam. Freneticamente, ele debatia consigo mesmo se devia correr e se atirar no corredor à frente. Não fazia a mais remota idéia de onde levava ou até que ponto ia, mas o corredor, no mínimo, evitaria que ele enfrentasse o que quer que esperasse por ele naquela sala. Pelo menos por algum tempo.
Ele reduziu o passo ainda mais, os olhos doendo ao se obrigar a olhar diretamente a luz que fluía da porta. Estava chegando mais perto. Não sabia o que esperava lá dentro — outra das torturas tremendamente horríveis deles? Ou talvez... Talvez um carrasco.
Todo seu corpo enrijeceu, cada músculo querendo fazer alguma coisa, exceto levá-lo para aquela luz vertiginosa.
— Quase lá — disse o policial por sobre o ombro de Chester, e Chester entendeu que não tinha alternativa a não ser cooperar. Não haveria uma moratória miraculosa, nem fugas oportunas.
Ele arrastava tanto os calcanhares que mal se mexia quando o Segundo Oficial lhe deu um empurrão tão forte que ele foi arrancado do chão e voou pela porta, entrando na luz. Deslizando de frente no piso de pedra, ele parou e ficou ali, meio atordoado.
A luz o cercava completamente e ele piscou rápido devido a seu brilho severo. Chester ouviu a porta bater e, por um farfalhar de papéis, sabia que havia mais alguém na sala. De imediato imaginou quem eram — dois Styx altos, muito provavelmente assomando atrás de uma mesa, assim como fizeram nas sessões da Luz Negra.
— Levante-se — ordenou uma voz anasalada e aguda.
Chester se levantou e lentamente ergueu os olhos para a origem do som. Não podia ficar mais pasmo com a visão que o recebeu.
Era um único Styx e ele era seco e pequeno, o cabelo cinza e fino puxado para trás nas têmporas e o rosto tomado de tantas rugas e linhas de expressão que parecia uma passa embranquecida. Curvado acentuadamente sobre uma mesa alta de tampo oblíquo, ele parecia um professor do passado.
Chester ficou completamente desarmado com esta aparição e aquela luz em volta de tudo. Não era o que ele esperava. Começou a se sentir aliviado, dizendo a si mesmo que, afinal, talvez as coisas ficassem melhores do que ele pensou, quando então seus olhos encontraram os do velho Styx.
Eram os olhos mais frios e mais sombrios que Chester já vira. Eram como dois poços sem fundo que o atraíam por algum poder sobrenatural e doentio, puxando-o para seu vazio. Chester sentiu um arrepio descer pelo corpo, como se a temperatura tivesse despencado na sala, e tremeu violentamente.
O velho Styx baixou os olhos para a mesa e Chester se balançou instável nos pés, como se tivesse sido repentinamente libertado de alguma coisa que o mantinha num aperto implacável. Ele soltou a respiração numa lufada, sem saber até agora que a estava prendendo. Depois, o Styx começou a ler num tom cadenciado.
— Você foi considerado culpado — disse ele —, sob a Norma 42, Éditos 18, 24, 42...
Os números continuaram, mas nada significavam para Chester até que o Styx parou e, muito categoricamente, disse a palavra “sentença”. A esta altura, Chester começou a ouvir de verdade.
— O prisioneiro será retirado deste local e transportado por trem ao Interior, e lá será seu Desterro, entregue às forças da natureza. Assim será — concluiu o velho Styx, batendo palmas e mantendo-as firmemente juntas, como se estivesse espremendo alguma coisa. Depois ergueu a cabeça lentamente dos documentos e disse: — Talvez o Senhor tenha piedade de sua alma.
— O que... o que quer dizer? — perguntou Chester, a cabeça girando com o olhar gélido do Styx e as implicações do que acabara de ouvir.
Sem precisar consultar os documentos diante de si, o Styx simplesmente reiterou a punição e voltou a se calar. Chester lutou com as perguntas que disparavam por sua cabeça, movendo os lábios sem emitir som algum.
— Sim? — perguntou o velho Styx, de tal forma que sugeria que estivera nesta situação muitas vezes e achava completamente tedioso ter que conversar com o prisioneiro inferior diante dele.
— O que... O que isso significa? — por fim Chester conseguiu falar.
O Styx encarou Chester por vários segundos e, inteiramente impassível, disse:
— O Desterro. Você será escoltado até a Estação dos Mineradores, muitas braças abaixo, e lá ficará por conta própria.
— Ainda mais fundo na terra?
O Styx assentiu.
— Não temos necessidade de sua espécie na Colônia. Você tentou fugir e a Panóplia faz fé disto. Você não é digno de servir aqui. — Ele bateu palmas novamente. — O Desterro.
Chester de repente sentiu o peso enorme de todos os milhões de toneladas de terra e pedra acima dele, como se o pressionassem diretamente, espremendo seu sangue. Ele cambaleou para trás.
— Mas eu não fiz nada. Não sou culpado de nada! — gritou ele, estendendo as mãos e pleiteando ao homenzinho sem emoção. Parecia que estava sendo enterrado vivo e nunca mais veria sua casa, ou o céu azul, ou sua família... Tudo o que ele amava e desejava. A esperança a que se prendera desde que foi capturado e trancafiado naquela cela escura se esvaiu dele, como o ar de um balão que explode.
Ele foi condenado.
Este homenzinho odioso não dava a mínima... Chester viu isso na cara impassível do Styx e em seus olhos medonhos: olhos de réptil, inumanos. E Chester sabia que não havia sentido algum em tentar convencê-lo, ou implorar por sua vida. Essa gente era selvagem e impiedosa, e eles o condenaram arbitrariamente ao destino mais pavoroso. Um túmulo ainda mais fundo.
— Mas por quê? — perguntou Chester, as lágrimas molhando rosto ao chorar abertamente.
— Porque assim é a lei — respondeu o velho Styx. — Porque estou sentado aqui e você está de pé aí. — Ele sorriu sem o menor vestígio de calor humano.
— Mas... — Chester objetou com um gemido.
— Policial, leve-o de volta ao Cárcere — disse o velho Styx, reunindo sua papelada com os dedos artríticos, e Chester ouviu a porta se abrir atrás dele.
Capítulo Trinta e Quatro
Will foi atirado para frente quando um punho caiu em cheio no meio de suas costas. Cambaleando feito bêbado por alguns passos, ele ricocheteou no corrimão e se virou devagar para encarar seu atacante.
— Speed? — disse ele, reconhecendo a carranca do valentão da escola.
— De onde você surgiu, floco de neve? Pensei que tivesse apagado. Disseram que estava morto ou coisa assim.
Will não respondeu. Estava imerso no casulo isolado da indisposição; parecia estar olhando o mundo de trás de um vidro canelado. Só o que Will pôde fazer foi ficar ali, o corpo tremendo enquanto Speed colocava a cara rabugenta a centímetros da dele. Pelo canto do olho, Will viu Bloggsy aproximando-se de Cal a pouca distância na ladeira.
Eles estavam a caminho do metrô e agora uma briga era a última coisa que Will queria.
— E aí, cadê o gordão? — sussurrou Speed, a umidade de seu hálito formando nuvens no ar frio. — É meio diferente sem seu protetor, não é, varapau?
— Ei, Speed, dá uma olhada nisso, é o Mini Me! — disse Bloggsy, olhando de Cal para Will e vice-versa. — O que tem nessa bolsa, espertinho?
Por insistência de Will, Cal levava as roupas sujas dos colonos em uma das velhas mochilas de expedição do dr. Burrows.
— Hora da revanche — gritou Speed, e ao mesmo tempo deu um murro na barriga de Will. Sem fôlego, o garoto caiu de joelhos e tombou, enroscando-se e protegendo a cabeça com os braços ao cair no chão.
— Isso está fácil demais — gritou Speed e chutou Will nas costas várias vezes.
Bloggsy soltava uivos ridículos e se agachava numa pose fingida de lutador de kung fu enquanto espetava dois dedos nos óculos de sol de Cal.
— Prepare-se para encontrar o criador — disse ele, trazendo o braço para trás, preparando-se para um soco.
Depois disso, tudo aconteceu rápido demais para Will. Houve um borrão de luz roxa e marrom quando Bartleby se jogou num baque no meio dos ombros de Bloggsy. O impacto afastou o garoto de Cal e o fez tropeçar desordenadamente ladeira abaixo, o gato ainda grudado em suas costas. Ao cair de cara no chão, Bloggsy se retorceu e tentou usar os cotovelos para se livrar da agitação de caninos perolados e das garras que pareciam bárbaras, ao mesmo tempo em que soltava os gritos agudos mais pavorosos e pedia a ajuda de alguém.
— Não! — gritou Will, a voz fraca. — Chega!
— Solte, Bart! — gritou Cal.
O gato, ainda em cima de Bloggsy, girou a cabeça para olhar Cal, que gritava outro comando.
— Cuide dele! — Cal apontou para Speed, que continuava parado junto a Will esse tempo todo, sem acreditar no que via O queixo de Speed caiu e uma expressão de puro pavor apareceu em seu rosto. Bartleby fixou os olhos na nova vítima através dos estranhos óculos escuros cor-de-rosa, o gorro tibetano agora meio torto na cabeça. Com um silvo alto, ele partiu pela ladeira na direção do valentão assustado.
— Meu Deus! Mande ele parar! — gritou Speed, começando a correr como se sua vida dependesse disso. E dependia mesmo. Às vezes ao lado dele, às vezes bloqueando seu caminho, Bartleby saltitava em volta de Speed como um furacão brincalhão, atacando suas panturrilhas e cortando as pernas através das calças da escola, lacerando sua pele. O menino apavorado cambaleava numa dança espasmódica e cômica ao tentar escapar freneticamente, os pés escorregando desesperados no asfalto.
— Desculpe, Will, desculpe! Me livra dessa! Por favor! — tagarelava Speed, as calças reduzidas a farrapos.
Com um olhar de Will, Cal colocou dois dedos na boca e assoviou. O gato parou de imediato e permitiu que Speed corresse. O menino não se virou para trás nem uma vez.
Will olhou de Cal para o pé da ladeira, onde Bloggsy tinha se levantado e meio que corria, meio que caía na pressa para conseguir fugir.
— Acho que nos livramos deles. — Cal riu.
— Sim — concordou Will fraquinho ao se levantar lentamente. Uma onda de febre após outra fluía por seu corpo e ele tinha a sensação de que ia desmaiar de novo. Podia muito bem se deitar de costas, abrir o casaco para o frio e dormir bem ali, na calçada gelada. A única maneira de Will conseguir descer o que restava da ladeira era com Cal sustentando-o, mas, por fim, eles conseguiram chegar embaixo e entrar na estação do metrô.
— Então até as pessoas da Crosta vão para os subterrâneos disse Cal, olhando a estação antiga e suja, precisando há muito de uma reforma. Suas maneiras se transformaram de imediato; ele parecia genuinamente à vontade pela primeira vez desde que apareceram nas margens do Tâmisa, aliviado por haver um túnel em volta dele, e não o céu aberto.
— Na verdade, não — disse Will apaticamente ao começar a colocar moedas na máquina de bilhetes, enquanto Bartleby babava sobre um pedaço de chiclete que parecia líquen, recém-depositado no piso de ladrilhos. Os dedos trêmulos de Will se atrapalharam com as moedas, depois ele parou e se encostou na máquina. — Isso não está bom — arfou ele. Cal pegou as moedas e, enquanto Will lhe dizia o que fazer, terminou de pagar pelos bilhetes.
Na plataforma, não demorou muito para que o trem chegasse. Uma vez a bordo da composição para o sul, nenhum dos meninos falou ao partirem da estação. O trem ganhava velocidade, Cal observava os cabos que ondulavam pelas laterais do túnel e brincava com seu bilhete. Lambendo as patas, Bartleby estava escorado sobre as coxas no banco ao lado de Cal. Não havia muita gente no vagão, mas Cal estava consciente de que eles atraíam alguns olhares muito curiosos.
De frente para Cal e Bartleby, Will estava afundado na lateral do vagão, acalmado pelo vidro frio na têmpora enquanto sua cabeça tombava na janela. Entre as paradas, ele entrava e saía de um sono espasmódico e durante um período de vigília viu que duas senhoras tinham se sentado nos lugares do outro lado do corredor. Trechos de sua conversa vagavam para a consciência e se misturavam com os anúncios das plataformas como vozes num sonho confuso.
“Olhe só para ele... que desgraça... os pés em cima dos bancos... CUIDADO COM O VÃO... que criança estranha... O METRÔ DE LONDRES PEDE DESCULPAS...”
Will obrigou-se a abrir os olhos e fitou as duas mulheres. Percebeu de imediato que era Bartleby a causa de sua aparente aflição. A que estava falando tinha cabelo com rinsagem roxa e usava bifocais de aro branco e translúcido que pousavam tortos no nariz vermelho.
— Shhh! Eles vão ouvir você — sussurrou a companheira, olhando Cal. Ela usava uma peruca que já vira dias melhores. As duas tinham sacolas de compras idênticas no colo, como se fossem uma forma de defesa contra os patifes sentados do outro lado.
— Que absurdo! Aposto que não falam uma palavra de inglês. Devem ter vindo para cá na caçamba de um caminhão. Quero dizer, olhe só o estado das roupas. E aquele ali... não parece lá muito inteligente para mim. Deve estar drogado ou coisa assim. — Will sentiu seus olhos remelentos pousarem nele.
— É como eu digo, precisamos mandar todos de volta.
— Sim, sim — disseram as duas senhoras em uníssono e, com um assentir mútuo de concordância, passaram a discutir, em detalhes mórbidos, a doença de uma amiga. Cal observava furiosamente sua tagarelice e, agora, ao que parecia, elas estavam preocupadas demais para dar atenção a qualquer outra pessoa. O trem parou e, enquanto as velhas se levantavam de seus lugares, Cal ergueu a aba do gorro tibetano de Bartleby e sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Bartleby de repente se ergueu e sibilou na cara delas com tanta ferocidade que Will ficou chocado em seu estupor de febre.
— Nunca vi uma coisa assim! — gritou a mulher de nariz vermelho, largando a sacola de compras. Enquanto a pegava, sua companheira se afobou e a puxou de lado, tentando apressá-la.
Num átimo, as duas mulheres saíram atrapalhadas do trem, gritando.
— Malditos ciganos! — xingou a mulher de nariz vermelho da plataforma. — Seus animais desgraçados! — gritou ela através das portas que se fechavam.
O trem entrou em movimento e Bartleby manteve os olhos demoníacos nas duas, que estavam paradas na plataforma, ainda gritando de indignação.
Dominado pela curiosidade, Will inclinou-se para o irmão.
— Me conta... O que você disse ao Bartleby? — perguntou ele.
— Ah, nada demais — respondeu Cal cheio de inocência, sorrindo com orgulho para o gato antes de olhar pela janela de novo.
Will andou apavorado o meio quilômetro que restava até o edifício. Cambaleava feito um sonâmbulo, parando quando ficava demais para ele.
Quando finalmente chegaram ao prédio alto, o elevador não estava funcionando. Will olhou com um desespero mudo a parede cinza metralhada de pichações. Era a gota d’água. Ele suspirou e, preparando-se para a subida, tropeçou pela escada esquálida. Depois de parar em cada andar para recuperar o fôlego, eles, por fim, chegaram ao andar certo e seguiram pela pista de obstáculos de sacos de lixo descartados.
Não houve resposta quando Cal tocou a campainha, então ele teve que recorrer a batidas na porta com o punho quando a tia Jean a abriu, de repente. Ela claramente não estava acordada há muito tempo — parecia tão esgotada e amarfanhada quanto o sobretudo roído por traças com que evidentemente dormira.
— O que é? — disse ela indistintamente, esfregando a nuca e bocejando. — Não pedi nada e não vou comprar nada de vendedor nenhum.
— Tia Jean, sou eu... Will — disse ele, o sangue sumindo de sua cabeça e a imagem da tia empalidecendo, como se todas as cores tivessem sido eliminadas dela.
— Will — disse ela vagamente, e interrompeu outro bocejo ao entender. — Will! — Ela ergueu a cabeça e o olhou com descrença. — Pensei que estivesse desaparecido. — Olhou para Cal e Bartleby, e acrescentou: — E quem é esse?
— É... um primo... — Will ofegou enquanto o chão começava a se inclinar e oscilar, e ele foi obrigado a dar um passo para a frente a fim de se apoiar na soleira da porta. Estava ciente do suor frio que escorria do couro cabeludo. — ...do Sul... um primo do Sul.
— Primo? Não sabia que você...
— Do papai — disse Will com a voz rouca.
Ela olhou Cal e Bartleby com suspeita e evidente desprazer.
— A desgraçada da sua irmã esteve aqui, sabia? — Ela olhou para Will. — Ela está com você?
— Ela... — Will começou a dizer numa voz trêmula.
— Porque a cretininha me deve dinheiro. Devia ter visto o que ela fez com meu...
— Ela não é minha irmã, é uma... traidora... cruel... ela é uma... — Depois disso Will tombou num desmaio de morto diante de uma tia Jean muito surpresa.
Cal estava à janela do quarto escurecido. Olhou as ruas abaixo, com as linhas pontilhadas de luzes âmbar e os cones majestosos dos faróis dos carros. Depois, com um pressentimento, ergueu lentamente a cabeça e olhou a lua, seu brilho prateado se espalhando pelo céu gelado. Não era a primeira vez que lutava para aprender, para entender o vasto espaço que se estendia diante dele, cujo aspecto ele nunca vira na vida. Agarrou-se ao peitoril, mal sendo capaz de controlar o pavor crescente. As solas dos pés se encolheram involuntariamente e a vertigem foi quase dolorosa.
Ao ouvir o irmão gemer, ele tirou os olhos da janela e foi se sentar ao lado da forma trêmula que se estendia na cama, coberta por apenas um lençol.
— Como é que ele está? — Cal ouviu a voz ansiosa da tia Jean, que surgia na soleira da porta.
— Está um pouco melhor hoje. Acho que ele esfriou mais — disse ele ao mergulhar uma flanela numa tigela de água, que chocalhava de cubos de gelo, e passar na testa de Will.
— Quer que chame alguém pra ver o garoto? — perguntou tia Jean. — Ele tá assim há muito tempo.
— Não — disse Cal com firmeza. — Ele disse que não quer.
— Não culpo o moleque, não culpo mesmo. Nunca tive tempo para charlatães... ou psicanalistas, nem te conto o que... — ela parou de repente quando Bartleby, que estivera enrascado e dormindo no canto, acordou com um pequeno espirro, depois andou e começou a lamber a água da tigela.
— Saia, seu gato idiota! — disse Cal, afastando-o.
— Ele só tá com sede — disse tia Jean, depois assumiu a mais ridícula voz de bebê. — Tadinho do bichinho, tá com sedinha? — Ela pegou o animal atordoado pela nuca e começou a levá-lo para a porta. — Vem com a mamãe, vou te dar um presente.
Um fluxo de lava se move portentoso ao longe, seu calor tão feroz na pele exposta de Will que ele mal consegue suportar. Em uma silhueta na parede vertical de correnteza vermelha, dr. Burrows indica freneticamente algo que brota de uma laje enorme de granito. Ele grita empolgado, como sempre acontece quando faz uma descoberta, mas Will não consegue entender as palavras devido ao ruído ensurdecedor entrecortado pelo tagarelar cacofônico de muitas vozes, como se alguém estivesse percorrendo ao acaso as ondas sonoras de um rádio com defeito.
A cena muda para um close-up. Dr. Burrows está usando uma lente de aumento e examina um caule fino de ponta bulbosa, que se ergue mais ou menos a meio metro da rocha sólida. Will vê os lábios do pai se mexendo, mas só consegue entender trechos curtos do que ele diz.
“...uma planta... literalmente rocha digerida... com base em silício... reage a estím... observe...”
A imagem corta a um close extremo. Entre dois dedos, o dr. Burrows arranca o caule cinza da pedra. Will se sente inquieto ao ver o caule se contorcer na mão do pai e lançar duas folhas feito agulhas que se entrelaçam em seus dedos.
“...prende-se a mim como ferro... meio obstinadas...”, diz o dr. Burrows, franzindo a testa.
Não há mais palavras, elas são substituídas por risos, mas seu pai parece estar gritando ao tentar se livrar da coisa, as folhas penetrando em sua mão e se enfiando pela carne da palma e do punho, subindo para o braço, a pele se ferindo, ferindo-se, abrindo numa ferida e ficando manchada de sangue enquanto as folhas se retorcem, entrelaçam-se numa valsa de serpente. Elas cortam com mais força seu braço, como um cortador de queijo possuído. Will tenta chegar ao pai para ajudá-lo enquanto ele luta em vão contra o ataque terrível, enquanto luta com o próprio braço.
— Não, não... pai... pai!
— Está tudo bem, Will, está tudo bem — veio a voz do irmão de uma longa distância.
O brilho de lava se fora. Em seu lugar, havia uma luz fraca e ele podia sentir a frieza tranqüilizadora da flanela que Cal pressionava em sua testa. Will se sentou com um sobressalto.
— É papai! O que há com meu pai? — gritou ele e olhou em volta desvairado, sem saber onde estava.
— Você está bem — disse Cal. — Estava sonhando.
Will se deixou cair nos travesseiros, percebendo que estava deitado na cama de um quarto estreito.
— Eu o vi. Foi tudo tão claro, tão real — disse Will, a voz falhando. Ele não conseguiu reprimir o jorro de lágrimas que subitamente encheram seus olhos. — Era papai. Ele estava com problemas.
— Foi só um pesadelo — Cal falou delicadamente, evitando os olhos do irmão, que agora chorava em silêncio.
— Estamos na casa da tia Jean, não é? — disse Will, recompondo-se ao ver o papel de parede floral.
— Sim, já estamos aqui há quase três dias.
— Hein? — Will tentou se sentar, mas foi demais e ele pousou a cabeça no travesseiro de novo. — Me sinto tão fraco.
— Não se preocupe, está tudo bem. Sua tia tem sido ótima. Na verdade tem uma queda pelo Bart também.
Nos dias que se seguiram, Cal cuidou de Will, recuperando sua saúde com tigelas de sopa ou feijões cozidos com torrada, e xícaras aparentemente intermináveis de chá com muito açúcar. A única contribuição de tia Jean a sua convalescença foi se empoleirar ao pé da cama e tagarelar incessantemente sobre os “velhos tempos”, embora Will estivesse tão exausto que caía no sono antes de ela poder entediá-lo.
Quando finalmente se sentiu forte o bastante para ficar de pé, Will testou as pernas, tentando andar de um lado a outro do quarto pequeno.
Ao mancar com alguma dificuldade, ele percebeu uma coisa atrás de uma caixa de revistas velhas.
Ele se abaixou e pegou os dois objetos. Cacos de vidro caíram no chão. Will logo reconheceu os dois porta-retratos de prata. Eram os que Rebecca mantinha na mesa-de-cabeceira. Olhando a foto de seus pais, e depois uma dele mesmo, jogou-se na cama, respirando mal. Estava atormentado. Parecia que alguém enfiara uma faca nele e a torcia muito lentamente. Mas o que ele esperava dela? Rebecca não era sua irmã e nunca foi. Ele continuou na cama por algum tempo, fitando, confuso, a parede.
Pouco depois, ele se levantou de novo e tropeçou para o corredor, entrando na cozinha. Pratos sujos estavam na pia e a lixeira transbordava de latas vazias e embalagens rasgadas de comida de microondas. Era uma cena de tal massacre que ele mal deu pelas torneiras de plástico, derretidas e marrons, e os ladrilhos escurecidos pelo fogo atrás delas. Fez uma careta e voltou para o corredor, onde ouviu a voz áspera da tia Jean. O tom era vagamente reconfortante, lembrando-o dos Natais em que ela aparecia na casa dele, conversando com sua mãe por horas a fio. Ele parou do lado de fora da porta e ouviu as agulhas de tricô da tia Jean batendo furiosamente enquanto ela falava.
— O desgraçado do dr. Burrows... Assim que pus os olhos nele, avisei a minha irmã... Eu avisei, sabia?... Não vai querer fica’marrada com um malandro todo cheio de instrução... Quer dizer, eu te pergunto, que bem um homem que vive cavando buracos pode fazer quando se tem contas pra pagar?
Will olhou pelo canto enquanto as agulhas pararam seus estalos de metrônomo e tia Jean tomou um gole de um copo. O gato olhava com adoração para ela, que retribuía seu olhar com um sorriso afetuoso e quase amoroso. Will nunca vira esse lado da tia. Ele sabia que devia dizer alguma coisa para anunciar sua presença, mas não conseguia se decidir a interromper o momento.
— Vou te contar, é bom ter vocês aqui. Quer dizer, depois que minha pequena Sophie morreu... Ela era uma cadela e eu sei que você não gosta muito de cachorro... Mas pelo menos ela ficou comigo... É mais do que posso dizer de qualquer homem que conheci.
Ela ergueu o tricô diante de si, um par de calças de cor espalhafatosa, que Bartleby farejou com curiosidade.
— Tá quase pronta. Mais um pouco e vai poder experimentar para ver se cabe, meu queridinho. — Ela se curvou e afagou Bartleby sob o queixo. Ele ergueu a cabeça e, fechando os olhos, começou a ronronar com a amplitude de um pequeno motor.
Will se virou para voltar ao quarto, estava encostado na parede do corredor, quando ouviu um estrondo atrás dele. Cal estava parado ao lado da porta da frente, duas sacolas de compras caídas e cuspindo seu conteúdo diante dele. Tinha um cachecol enrolado na boca e usava os óculos de sol da sra. Burrows. Parecia o Homem Invisível.
— Não vou suportar muito mais disso — disse ele, agachando-se para pegar as compras. Bartleby saiu da sala de estar, seguido por tia Jean, um cigarro empoleirado na boca. O gato vestia as calças recém-tricotadas e um cardigã de pêlo de cabra, os dois uma mistura estridente de azuis e vermelhos, encimados por um gorro multicor do qual as orelhas sarnentas se projetavam comicamente. Bartleby parecia o sobrevivente de uma explosão num bazar de caridade.
Cal olhou a figura estranha diante dele, apreendendo a exibição chocante de cores, mas não fez comentário algum. Parecia estar nas profundezas do desespero.
— Este lugar está cheio de ódio... posso sentir o cheiro em toda parte. — Ele sacudiu a cabeça devagar.
— Ah, deixe isso, meu amor — disse tia Jean baixinho. — Sempre foi assim.
— A Crosta não é o que eu esperava — disse Cal. Ele pensou por um momento. — E não posso ir para casa... posso?
Will voltou-se para trás enquanto procurava por alguma coisa para dizer que consolasse o irmão, algumas frases para amenizar a angústia do menino, mas foi incapaz de pronunciar uma palavra sequer.
A tia Jean deu um pigarro, dando um fim àquele momento.
— Imagino que isso significa que vocês vão embora?
Enquanto estava parada ali com o casaco velho e desmazelado, Will viu pela primeira vez que ela era vulnerável e frágil.
— Acho que vamos — admitiu ele.
— Tá bom — concordou ela num tom falso. Pôs a mão no pescoço de Bartleby, acariciando ternamente com o polegar as dobras frouxas de sua pele. — Sabe que são bem-vindos aqui... a hora que quiserem. — Sua voz ficou sufocada e ela se virou rapidamente para se afastar deles. — E tragam o gatinho com vocês. — Ela foi para a cozinha, onde eles podiam ouvir que ela tentava reprimir o choro ao bater uma garrafa num copo.
Nos dias que se seguiram, eles planejaram sem parar. Will sentia-se cada vez mais forte à medida que se recuperava da doença, os pulmões se limpando e a respiração voltando ao normal. Eles foram a expedições de compras: uma loja de excedentes do exército lhes rendeu máscaras de gás, corda de alpinismo e um cantil para cada um deles; compraram unidades novas de flash para a câmera numa loja de penhores e, como era a semana depois da noite de Guy Fawkes, compraram várias caixas grandes de fogos de artifício em uma banca de jornal. Will queria se certificar de que eles estivessem prontos para qualquer eventualidade e qualquer coisa que produzisse uma luz forte podia ser útil. Eles estocaram comida, preferindo provisões leves, mas energéticas de modo a não ter que carregar peso. Depois da gentileza que lhes demonstrara, Will se sentia mal por dispor do dinheiro da tia para pagar por tudo isso, mas não tinha alternativa.
Eles esperaram até a hora do almoço para sair de Highfield. Vestiram as roupas de colono, agora limpas, e se despediram da tia Jean, que deu um abraço lacrimoso em Bartleby. Depois, eles pegaram o ônibus para o centro de Londres e andaram o resto do caminho até a entrada do rio.
Capítulo Trinta e Cinco
Cal ainda apertava um lenço na cara e murmurava sobre os ‘gases abomináveis” quando eles saíram da ponte Blackfriars e desceram a escada para o aterro. Tudo parecia tão diferente à luz do dia que por um momento Will teve dúvidas de que estavam no lugar certo. Com gente apressada em volta deles na calçada, parecia demasiado fantasioso supor que em algum lugar ali embaixo havia uma Londres primitiva e abandonada, e que os três iam voltar lá para baixo.
Mas estavam no lugar certo e bastava uma curta caminhada para chegar à entrada daquele outro mundo estranho. Pararam junto ao portão e olharam para baixo, vendo a água amarronzada bater preguiçosamente.
— Parece fundo — observou Cal. — Por que está assim?
— Dãããã! — gemeu Will, batendo com a palma na testa. — A maré! Eu não tinha pensado na maré. Vamos ter que esperar que baixe.
— Em quanto tempo vai baixar?
Will deu de ombros, olhando o relógio.
— Não sei. Pode levar horas.
A única alternativa era matar o tempo andando pelas ruas em volta do museu Tate Modern e voltar à margem de vez em quando para ver a água, tentando não atrair muita atenção. Lá pela hora do almoço, eles puderam ver o cascalho aparecendo.
Will concluiu que não podiam esperar mais tempo.
— Tudo bem, força total! — anunciou ele.
Estavam à plena vista de muitos transeuntes no intervalo do almoço, mas ninguém percebeu o trio de bufões, vestidos de forma excêntrica e carregados de mochilas, que escalavam o muro e iam para a escada de pedra. Então, um velho de gorro e cachecol de lã os viu e começou a gritar “Seus moleques safados!”, agitando o punho furiosamente para eles. Uma ou duas pessoas se reuniram em volta para ver que balbúrdia era aquela, mas rapidamente perderam o interesse e foram embora. Isto pareceu aprofundar o ultraje do velho e ele também arrastou os pés dali, murmurando consigo mesmo.
No pé da escada, a água batia nas pernas dos meninos enquanto eles galopavam com todo vigor pela margem parcialmente submersa, só relaxando quando estavam fora de vista, sob o píer. Sem nenhuma hesitação, Cal e Bartleby entraram na boca do túnel de drenagem.
Will parou por um instante antes de prosseguir. Deu uma demorada última olhada no céu cinza-claro através das frestas das tábuas e respirou fundo, saboreando os últimos sopros de ar fresco.
Agora que tinha recuperado as forças, ele se sentia uma pessoa total-mente diferente: estava preparado para o que viesse. Como se a febre houvesse purgado dele todas as dúvidas ou fraquezas, sentia a segurança resignada do aventureiro experiente. Mas ao baixar os olhos para o rio lento, ele viveu a mais funda pontada de perda e melancolia, ciente de que talvez nunca mais voltasse a ver este lugar. É claro que não precisava passar por isso, podia ficar aqui, se quisesse, mas ele sabia que a vida jamais seria a mesma. Houve muitas mudanças, coisas que não podiam ser desfeitas.
— Vamos — disse, sacudindo-se de seus devaneios e entrando no túnel, onde Cal esperava por ele, impaciente para continuar. Com um olhada rápida, Will pôde ver as emoções conflitantes no rosto do irmão: embora a ansiedade fosse evidente, também havia uma sugestão de algo mais, um alívio profundo criado pela promessa de um retorno iminente aos subterrâneos. Afinal, era o lar dele.
Embora as circunstâncias o tivessem obrigado a isso, Will refletiu sobre o erro terrível que fora trazer Cal à superfície. Cal precisaria de tempo para se adaptar à vida da Crosta, e este era um luxo que eles não tinham. Gostando ou não, o destino de Will estava no resgate de Chester e em encontrar o pai. E o destino de Cal ligava-se inextrincavelmente ao dele.
Incomodava-o ter perdido tantos dias com febre. Não fazia idéia se era tarde demais para salvar Chester. Será que ele já foi exilado para as Profundezas, ou chegou a um fim inimaginável nas mãos dos Styx? Qualquer que fosse a verdade, Will descobriria. Tinha que continuar acreditando que Chester ainda estava vivo; ele precisava voltar. Nunca viveria com essa questão pendente.
Eles encontraram a abertura vertical e Will desceu relutante para a água gelada. Cal subiu nos ombros de Will para poder chegar à abertura, depois deu impulso para cima, arrastando uma corda com ele. Quando o irmão estava em segurança no alto, Will amarrou a outra ponta da corda em volta do peito de Bartleby para içá-lo. Isto se mostrou totalmente desnecessário já que, ao chegar à abertura, o animal usou as pernas vigorosas para subir com uma agilidade assustadora. Então, a corda foi jogada para Will, que se guindou para as sombras no alto. Ao chegar lá, ele pulou várias vezes para se livrar da água e se aquecer.
Depois eles escorregaram pela rampa convexa sobre os fundilhos das calças, caindo com um baque na saliência que marcava o começo da escada íngreme. Antes de continuar, retiraram cuidadosamente as roupas tricotadas de Bartleby e a deixaram na saliência alta; agora não podiam se dar ao trabalho de carregar nenhum peso morto. Will não tinha idéia alguma do que fazer depois que voltassem à Colônia, mas sabia que tinha que ser completamente prático... ele precisava ser como Tam.
Os meninos colocaram as máscaras de gás dos excedentes do exército, olharam-se por um momento, assentiram numa aquiescência e, com Cal na frente, começaram a longa descida.
O início da jornada foi árduo, a escada perigosa pela água que vazava constantemente e, mais abaixo, o tapete de algas pretas. Will descobriu que tinha poucas lembranças de sua passagem por ali, percebendo que isto provavelmente se devia à doença misteriosa que já o havia afetado na época.
Num piscar de olhos eles chegaram à abertura na parede da caverna da Cidade Eterna.
— Mas que diabos é isso?! — exclamou Cal no momento em que saíram no alto do enorme lance de escada, os olhos rapidamente varrendo a escuridão. Algo estava muito errado. Aproximadamente trinta metros abaixo, a escada desaparecia de vista
— Mas é isso que se pode chamar de uma baita sopa de ervilha — disse Will em voz baixa, os óculos de vidro cintilando com o brilho verde-claro.
De seu ponto de observação, no alto da cidade, eles olharam o que parecia ser a superfície ondulante de um imenso lago opalino. A mais densa das neblinas cobria todo o cenário, inundada por uma luz sinistra, como se fosse uma imensa nuvem radioativa. Era muito desanimador pensar que a ampla extensão da enorme cidade estava obscurecida por este manto opaco. Will automaticamente procurou a bússola no bolso.
— Isso vai dificultar um pouco a vida — observou ele, franzindo o cenho por trás da máscara.
— Por quê? — retorquiu Cal. Seus olhos oscilavam atrás dos óculos enquanto um amplo sorriso se espalhava pelo rosto. — Eles não vão conseguir nos ver com tudo isso, não é?
Mas Will continuava sombrio.
— É verdade, mas nós também não podemos vê-los.
Cal manteve Bartleby imóvel enquanto Will prendia uma corda em seu pescoço. Eles não podiam se arriscar a que ele vagasse por ali nestas condições.
— É melhor ficar segurando minha mochila, para não se perder. E seja lá por que motivo for, não solte o gato — instou Will ao irmão enquanto eles davam os primeiros passos na neblina, descendo lentamente para ela, como mergulhadores afundando sob as ondas. Sua visibilidade imediatamente foi reduzida a não mais de meio metro. Eles sequer conseguiam ver as botas, o que tornava necessário sentir a beira de cada degrau antes de se aventurar no seguinte.
Felizmente, chegaram ao pé da escada sem nenhum incidente e no início da planície de lodo eles repetiram o ritual das algas negras, esfregando a gosma fedorenta em todo o corpo, desta vez para mascarar os cheiros de Crosta de Londres.
Passando pela beira do lodaçal, eles por fim esbarraram no muro da cidade e o contornaram. A visibilidade ficava cada vez pior e eles levaram um século para encontrar a entrada.
— Um arco — sussurrou Will, parando tão de repente que o irmão quase caiu sobre ele. A estrutura antiga se solidificou brevemente diante dos dois e então a neblina se fechou, obscurecendo-a novamente.
— Ah, que ótimo — respondeu Cal, sem nem um pingo de entusiasmo.
Do lado de dentro da muralha da cidade, eles tiveram que tatear o caminho pelas ruas, bastante próximos um do outro para que não se separassem sob estas condições impossíveis. A névoa era quase tangível, tragando e rolando como lençóis ao vento, às vezes separando-se e permitindo que eles tivessem o breve vislumbre de uma parte da muralha, um trecho de chão alagado ou as pedras cintilantes sob os pés. O chapinhar das botas nas algas negras e sua respiração laboriosa pelas máscaras pareciam enervantemente altos para eles. Pelo jeito como a neblina se retorcia e brincava com seus sentidos, tudo parecia muito íntimo e, ao mesmo tempo, demasiado remoto.
Cal pegou o braço de Will e eles pararam, imóveis. Estavam começando a perceber outros barulhos em volta que não eram produzidos por eles. De início vagos e indistintos, estes sons ficavam mais altos. Enquanto eles escutavam, Will podia jurar que pegou um sussurro áspero, tão perto que ele encolheu. Ele puxou Cal de volta alguns passos, convencido de que já haviam chegado ao que ele temia, que tinham deparado precipitadamente com a Divisão Styx. Porém, Cal jurou que não tinha ouvido absolutamente nada e depois de um tempo eles reassumiram nervosos a jornada.
E então, de longe, veio o ladrar horripilante de um cachorro — desta vez não houve dúvida nenhuma. Cal segurou a trela de Bartleby com mais firmeza enquanto o gato levantava a cabeça, as orelhas eriçadas. Embora nenhum dos dois dissesse nada, eles pensavam a mesma coisa: a necessidade de atravessarem a cidade o mais rápido possível se tornava muito mais premente.
Ao se arrastarem pelo caminho, o coração dos dois martelava e Will se voltava ao mapa de Tam, verificando a bússola repetidas vezes com as mãos trêmulas numa tentativa de corrigir sua posição. Na realidade, a visibilidade era tão ruim que ele só fazia uma idéia muito aproximada de onde estavam. Até onde sabia, eles podiam estar vagando em círculos. Não pareciam fazer nenhum progresso e Will estava totalmente desnorteado. Que grande líder estava se tornando!
Finalmente, ele os fez parar e o trio se amontoou ao abrigo de uma parede esfarelenta. Aos sussurros baixos, discutiram o que fazer a seguir.
— Se começarmos a correr, não importa passarmos por uma patrulha. Podemos facilmente nos livrar deles — sugeriu Cal em voz baixa, os olhos disparando para os lados sob as lentes manchadas de umidade da máscara de gás. — Só temos que continuar correndo.
— Ah, tá legal — respondeu Will. — Então acha realmente que podemos correr mais do que um desses cães? Essa eu queria ver.
Cal bufou de raiva.
Will continuou.
— Olha, não fazemos a menor idéia de onde estamos e, se fizermos isso, podemos chegar a um beco sem saída ou coisa assim...
— Mas depois que estivermos no Labirinto, eles não vão poder nos pegar — insistiu Cal.
—Tá, mas temos que passar por ali primeiro, e pelo que sabemos ainda é um longo caminho. — Will não acreditava na sugestão absurda do irmão. Ocorreu-lhe que meses atrás ele podia ter sido o defensor de uma disparada louca pelas ruas e avenidas da cidade. De algum modo, imperceptivelmente, ele mudou. Agora era o sóbrio e Cal era o impulsivo, o cabeçudo mais novo, cheio de confiança e disposição de arriscar tudo.
A furiosa troca de sussurros continuou, tornando-se cada vez mais colérica até que Cal finalmente cedeu. Avançariam bem de mansinho; seguiriam lentamente até o outro extremo da cidade, reduzindo ao mínimo o som dos passos na neblina se alguém, ou alguma coisa, se aproximasse.
Ao passarem por montes de entulho, a cabeça de Bartleby disparou para todo lado, farejando o ar e o chão, quando de repente ele parou. Apesar de todos os esforços de Cal para puxar a trela, o gato se recusava a se mexer — abaixara o corpo como se estivesse caçando alguma coisa, a cabeça grande perto do chão e rabo esquelético apontado para o alto. Suas orelhas estavam eretas e giravam como discos de radar.
— Onde eles estão? — sussurrou Cal freneticamente. Will não respondeu, mas meteu a mão nos bolsos laterais da mochila de Cal e pegou dois fogos de artifício grandes. Também pegou o isqueiro de plástico descartável da tia Jean em um bolso interno do casaco e o estendeu na mão, preparado.
— Vamos, Bart — Cal sussurrava na orelha do gato ao se ajoelhar ao lado dele —, está tudo bem.
O pouco pelo de Bartleby agora estava eriçado. Cal conseguiu arrastar o gato um pouco e eles foram na ponta dos pés na direção contrária, como se pisassem em ovos, Will atrás com os fogos de artifício posicionados nas mãos.
Seguiam a curvatura suave de uma parede, Cal sentindo a alvenaria grossa com a mão livre como se fosse uma forma incompreensível de Braille. Will andava de costas, verificando a retaguarda. Sem ver nada a não ser as nuvens proibitivas e chegando à conclusão de que era inútil tentar depender da visão sob estas condições, ele girou e tropeçou em um pedestal de granito. Will recuou enquanto a face de uma enorme cabeça de mármore surgiu da névoa que se separava, olhando-o de esguelha. Rindo consigo mesmo, ele a contornou cuidadosamente e encontrou o irmão esperando a cerca de um metro.
Tinham dado uns vinte passos quando a neblina misteriosamente se curvou para trás e revelou um trecho de rua com calçamento de pedra diante deles. Will limpou apressadamente a umidade dos óculos e deixou que seu olhar passeasse pela margem da névoa que recuava. Pouco a pouco, a beira da rua e as fachadas de alguns prédios mais próximos entraram no campo de visão. Os dois garotos sentiram uma onda enorme de alívio quando os arredores se revelavam de forma torturante pela primeira vez desde que tinham entrado na cidade.
E então seu sangue congelou. Ali, a menos de dez metros de distância, reais demais e terrivelmente nítidos, eles os viram. Uma patrulha de oito Styx se abria em leque na rua. Estavam imóveis como predadores, os óculos de proteção redondos observando os meninos, que recuavam emudecidos.
Eram como espectros de um pesadelo futuro, com seus casacos longos de listras verdes e cinza, barretes estranhos e máscaras respiratórias sinistras. Um deles segurava um farejador que parecia feroz em uma tira grossa de couro; estava esticada em sua coleira, a língua pendendo obscenamente do lado da boca monstruosa. Ele farejava intensamente e de imediato virou a cabeça para os garotos. Os seixos pretos de seus olhos de conta os localizaram num instante. Com um rosnado fundo e trovejante, ele retraiu os lábios e revelou dentes amarelados e imensos gotejando saliva de excitação. A trela se afrouxou quando ele se agachou, preparando-se para saltar.
Mas ninguém fez nenhum movimento. Como se o tempo tivesse parado, os dois grupos limitaram-se a ficar parados e se encaravam numa expectativa muda e horrível.
Algo atingiu a cabeça de Will. Ele gritou e girou Cal, arrancando-o da inércia do choque. Depois eles correram, voando de volta à neblina, as pernas batendo freneticamente. Correram sem parar, incapazes de dizer o quanto tinham avançado pela mortalha de névoa. Atrás deles, vinha o latido selvagem do farejador e os gritos ásperos dos Styx.
Nenhum dos dois fazia a menor idéia de para onde ir, só sabiam que tinham que desaparecer da área. Não tinham tempo para pensar, a mente congelada de pânico cego.
E então Will recuperou o juízo. Gritou para Cal continuar enquanto reduzia o ritmo e acendia o pavio azul de um pistolão enorme. Sem ter certeza se ia pegar ou não, ele rapidamente o encostou em um naco de alvenaria, inclinando-o para seus perseguidores.
Will correu alguns metros e parou de novo. Acendeu o isqueiro, mas desta vez a chama se recusou a vir. Xingando, ele o riscava desesperadamente, sem parar. Nada, só faísca. Ele o sacudiu como vira os Grey fazerem com tanta freqüência na escola quando acendiam seus cigarros ilícitos. Will respirou fundo e mais uma vez girou a roda do isqueiro. Isso! A chama era pequena, mas o suficiente para acender o pavio do fogo de artifício, uma bateria de bombas de ar. Mas agora os rosnados, os latidos e as vozes estavam se aproximando dele. Ele perdeu a coragem e simplesmente jogou o fogo de artifício no chão.
— Will, Will! — ele ouviu mais à frente. Ao se voltar para os gritos, ficou furioso por Cal fazer tanto barulho, embora soubesse que nunca o encontraria de outra forma. Will corria a toda quando alcançou o irmão e quase rolou sobre ele. Eles disparavam como loucos quando explodiu o primeiro fogo de artifício. Girou para todo lado, as cores primárias e vivas sangrando pela textura da neblina, e terminou com dois trovões ensurdecedores.
— Continue — sibilou Will para Cal, que tinha batido a cabeça numa parede e agia como se estivesse meio tonto. — Vamos. Por aqui! — disse ele puxando o irmão pelo braço, sem permitir que ele tivesse tempo de se demorar em sua lesão.
Os fogos de artifício continuaram, explodindo bolas de fogo luminosas no alto da caverna ou em arcos baixos que terminavam na própria cidade, destacando por um momento a silhueta dos prédios como o cenário de um jogo de sombras. Cada raio iridescente culminava em um lampejo estonteante e uma explosão de canhão, ecoando e trovejando pela cidade como uma tempestade feroz.
De vez em quando Will parava para acender outro fogo de artifício, escolhendo pistolões, bombas de ar ou foguetes que posicionava em partes da alvenaria ou os atirava no chão na esperança de que a posição dos dois fosse indistinta para a patrulha. Os Styx, se ainda os estivessem seguindo, teriam de suportar a maior parte deste ataque violento e Will esperava que o próprio cheiro da fumaça confundisse o olfato do farejador.
Enquanto o último dos fogos explodia numa cavalgada de luz e som, Will rezava para que eles tivessem tempo suficiente para chegar ao Labirinto. Reduziram o passo a uma corrida lenta para recuperar o fôlego, depois pararam completamente para escutar algum sinal de seus perseguidores, mas agora não havia nada. Ao que parecia, eles afugentaram todos. Will se sentou em uma escada larga de um prédio que parecia ter sido um templo e pegou o mapa e a bússola enquanto Cal ficou de vigia.
— Eu não faço idéia de onde estamos — admitiu ele, dobrando o mapa. — É inútil!
— Podemos estar em qualquer lugar — concordou Cal.
Will se levantou, olhando para os lados.
— Acho que devemos seguir na mesma direção.
Cal assentiu.
— Mas e se acabarmos de volta ao começo?
— Não importa. Precisamos continuar em movimento — disse Will ao partir.
Mais uma vez o silêncio os comprimiu, e as formas e sombras misteriosas apareciam e se atenuavam, como se os prédios estivessem entrando e saindo de foco na cidade invisível. Eles fizeram um progresso torturante de tão lento, passando por uma sucessão de ruas, quando Cal os fez parar.
— Acho que está clareando um pouco — sussurrou ele.
— Bom, já é alguma coisa — respondeu Will.
Novamente Bartleby farejou e se agachou, sibilando enquanto as margens da névoa recuavam diante deles. Os meninos ficaram paralisados, os olhos vasculhando febrilmente o ar leitoso.
Como véus sendo erguidos para revelar o mundo, ali, a menos de seis metros, uma forma escura e vaga estava agachada numa pose ameaçadora. Os dois ouviram um rosnado gutural e grave.
— Ah, meu Deus, um farejador! — Cal engoliu em seco.
O coração dos dois parou com uma percepção medonha. Só o que conseguiram fazer foi ver o animal se levantar, as pernas traseiras musculosas tensionando-se ao entrar em movimento enquanto batia as patas na terra, depois começou a se mexer, acelerando para frente numa velocidade desconcertante. Não havia absolutamente nada que eles pudessem fazer. Não tinha sentido correr; estava perto demais. Como um motor a vapor do inferno, o sabujo preto se atirou para eles, a condensação vomitando de suas narinas infladas.
Will não teve tempo para pensar. Ao ver o animal, largou a mochila e tirou Cal do caminho.
O farejador subiu no ar e caiu pesadamente no peito de Will. Suas patas como clavas o achataram de costas, a cabeça espancando o chão coberto de algas com um baque duro. Meio tonto, Will estendeu os braços e agarrou o pescoço do monstro com as duas mãos. Seus dedos encontraram a coleira grossa e se seguraram nela, enquanto ele tentava afastar o brutamontes de seu rosto.
Mas o animal era poderoso demais. As mandíbulas se fechavam na máscara, depois a pegaram e morderam. Will ouviu o guinchar de suas presas apertando a borracha enquanto a máscara era esmagada em seu rosto, em seguida um estalo quando um dos óculos se espatifou. Ele sentiu o cheiro do hálito pútrido do farejador, como carne azeda aquecida, enquanto o animal continuava a torcer e girar a máscara, as tiras atrás da cabeça se esticando quase ao ponto de ruptura.
Rezando para que a máscara ficasse no lugar, ele tentou com todas as forças afastar a cabeça. As mandíbulas do farejador escorregaram na borracha molhada, porém o sucesso de Will teve vida curta. O cão recuou um pouco, mas de imediato atacou de novo. Gritando, e ainda segurando a coleira grossa com toda a força, Will só conseguia mantê-lo afastado da cara, os braços no limite de sua potência. A coleira cortava seus dedos; ele não conseguia acreditar no peso da besta. Repetidas vezes Will afastava a cabeça, só para escapar de uma mordida rápida, como as mandíbulas de uma poderosa armadilha de mola se fechando.
E então o animal se contorceu e virou o corpo.
Uma das mãos de Will se soltou e, sem nada que o estorvasse, o animal rapidamente procurou um alvo recompensador. Atingiu o braço de Will e o mordeu com força. O garoto gritou de dor, a outra mão involuntariamente abrindo-se e soltando a coleira.
Agora nada poderia detê-lo.
O bicho de imediato o arranhou e afundou os incisivos em seu ombro. Em meio aos rosnados e mordidas, ele ouviu o tecido de seu casaco se rasgar quando os dentes enormes, como filas idênticas de adagas, penetraram e dilaceraram sua carne. Will gemeu outra vez quando o animal sacudiu a cabeça, rosnando alto. Ele estava impotente, uma boneca de trapos sacudida para todo lado. Com o braço livre, ele esmurrou sem força o flanco e a cabeça do animal, mas foi em vão.
E então, de repente, o cachorro desgrudou de seu ombro e subiu nele, o peso enorme prendendo-o ainda ao chão, com os olhos frenéticos fixos nos de Will. O garoto pôde ver as mandíbulas imensas a centímetros de seu rosto, os fiapos de baba caindo nos óculos. Will sabia que Cal fazia o possível para ajudar; lançava-se rapidamente aos socos e chutava a fera, depois recuava com a mesma rapidez. A cada vez que fazia isso, o cachorro somente se virava um pouco para rosnar para ele, como se soubesse que não representava ameaça alguma. Seu pequeno cérebro selvagem estava fixo em apenas uma coisa, a presa que estava completa e definitivamente a sua mercê.
Will tentou desesperadamente rolar, mas a criatura o mantinha preso ao chão. Ele sabia que não era páreo para esta fera diabólica e irreprimível que parecia ser feita de placas enormes de músculos, duros e inflexíveis feito uma rocha.
— Vai! — gritou ele para Cal. — Sai daqui!
E depois, de lugar nenhum, um raio de carne cinza foi catapultado na cabeça do farejador.
Por um instante, foi como se Bartleby estivesse suspenso no ar, o dorso arqueado e as garras estendidas como navalhas cortantes pouco acima da cabeça do cão. Em seguida, ele caiu e houve uma comoção frenética de movimento. Eles ouviram os cortes molhados na carne quando os dentes de Bartleby encontraram sua primeira meta. Uma fonte escura de sangue jorrava sobre Will, de um corte lívido onde antes estivera a orelha do cão. A fera soltou um ganido grave e de imediato deu pinotes e pulou de cima de Will, com Bartleby ainda grudado em sua cabeça e no pescoço, atacando com mordidas e golpes dilacerantes das patas dianteiras.
— Levante! Levante! — gritava Cal, ajudando Will a se colocar de pé com uma das mãos e pegando a mochila dele com a outra.
Os meninos se retiraram para uma distância segura, depois pararam, compelidos a ficar e esperar. Permaneceram paralisados no chão, petrificados por esta batalha mortal entre gato e cachorro, que se contorciam num combate letal, as formas dos corpos se fundindo até que se tornaram um redemoinho indistinguível de cinza e vermelho, pontuado por dentes e garras faiscantes.
— Não podemos ficar aqui — gritou Will. Ele podia ouvir os gritos da patrulha que se aproximava, que rapidamente partiu na direção da briga.
— Bart, larga! Vem!
— Os Styx. — Will sacudiu o irmão. — Temos que ir!
Cal se afastou com relutância, olhando para trás para ver se o gato os seguia pela neblina. Mas não havia sinal de Bartleby, só os silvos, ganidos e guinchos distantes.
Agora ecoavam gritos e passos em toda parte. Os meninos correram às cegas, Cal grunhindo do esforço de carregar duas mochilas e Will tremendo de choque, todo o braço latejando de dor. Podia sentir o sangue escorrendo pelo lado do corpo e ficou alarmado ao descobrir que jorrava pelas costas de sua mão como um córrego e pingava da ponta dos dedos.
Sem fôlego, eles concordaram apressadamente com um rumo, esperando, no desespero, que este os tirasse daquele lugar e não os levasse direto de volta aos braços dos Styx. Quando chegaram ao perímetro de lodo, eles contornariam os limites da Cidade até acharem a boca do Labirinto. E se o pior acontecesse e eles se perdessem totalmente, Will sabia que poderiam vir a esta escada de pedra de novo e voltar rapidamente à Crosta.
Pelos sons que ouviam, a patrulha parecia se dirigir a eles. Os meninos corriam a toda velocidade, mas depois deram com a cabeça numa parede. Será que inadvertidamente acabaram num beco sem saída? A idéia terrível tomou os dois ao mesmo tempo. Eles a tatearam freneticamente até que encontraram um arco, as laterais esfareladas e o marco ausente de seu ápice.
— Graças a Deus — sussurrou Will, olhando com alívio para Cal. — Essa foi por pouco.
Cal limitou-se a assentir, arfando fortemente. Eles deram um curto olhar para trás, depois seguiram pelo arco em ruínas.
E com a velocidade de um raio, mãos fortes os agarraram rudemente dos dois lados da abertura, arrancando-os do chão.
Capítulo Trinta e Seis
Usando o braço bom, Will bateu com toda força que conseguiu reunir, mas as juntas da mão apenas roçaram num capuz de lona sem nenhuma eficiência. O homem praguejou asperamente enquanto Will dava outro golpe, mas desta vez seu punho foi apanhado e preso no aperto de ferro de uma mão enorme, que o fez recuar sem nenhum esforço e o prendeu à parede.
— Já basta! — sibilou o homem. — Shhhh!
De repente, Cal reconheceu a voz e começou a se interpor entre Will e o atacante encapuzado. O garoto ficou completamente confuso. O que o irmão estava fazendo? Febrilmente, ele tentou bater de novo, mas o homem o segurou com rapidez.
— Tio Tam! — gritou Cal com alegria.
— Fale baixo — repreendeu Tam.
— Tam? — repetiu Will, sentindo-se ao mesmo tempo idiota e muito aliviado.
— Mas... como... como você sabia que a gente...? — gaguejou Cal.
— Ficamos de olho em vocês desde que a fuga saiu dos trilhos — interrompeu o tio.
— Sim, mas como sabia que era a gente? — perguntou Cal de novo.
— Só seguimos a luz e o barulho. Quem mais, além de vocês, usaria essa pirotecnia idiota? Devem ter ouvido na Crosta, que dirá na Colônia.
— Foi idéia de Will — respondeu Cal. — Funcionou mais ou menos.
— Mais ou menos — disse Tam, olhando com preocupação para Will, que se apoiava na parede, a borracha da máscara marcada por cortes profundos e um dos óculos espatifado e inútil. — Você está bem, Will?
— Acho que sim — murmurou ele, segurando o ombro ensopado de sangue. Sentia-se meio tonto e distante, mas não sabia se isto se devia aos ferimentos ou ao alívio dominador por Tam tê-los encontrado.
— Eu sabia que você não teria sossego com Chester aqui.
— O que aconteceu com ele? Ele está bem? — perguntou Will, eriçando-se à menção do nome do amigo.
— Está vivo, pelo menos por enquanto... Vou contar tudo a vocês depois. Agora, Imago, é melhor darmos o fora daqui.
A forma imensa de Imago entrou no campo de visão com uma ligeireza inesperada, a máscara bojuda torcendo-se furtivamente para os lados, como um balão meio vazio pego pelo vento enquanto ele examinava as sombras escuras. Ele colocou a mochila de Will no ombro como se não pesasse nada, depois partiu. Só o que os meninos puderam fazer foi acompanhá-lo. Sua fuga agora se transformara num jogo enervante de Siga o Líder, com a sombra de Imago guiando-os pelo miasma e os obstáculos invisíveis, enquanto Tam protegia a retaguarda. Mas os meninos estavam tão gratos por estar novamente sob a asa de Tam que quase se esqueceram de seus apuros. Sentiam-se seguros de novo.
Imago levava um globo luminoso na mão em concha, permitindo que dela saísse luz suficiente para que conseguissem andar pelo terreno difícil. Eles correram por uma série de pátios alagados, depois deixaram a neblina para trás ao entrarem em um prédio circular, disparando a um ritmo alucinante pelos corredores revestidos de esculturas e murais escamosos. Eles escorregaram na lama, no piso de mármore rachado de cômodos abandonados e corredores repletos de alvenaria quebrada, até que se viram subindo uma escada de granito preto. Ascendendo cada vez mais, de repente estavam outra vez em espaço aberto. Ao atravessar passadiços de pedra fraturada em que faltavam longos trechos da balaustrada, Will conseguiu olhar para baixo, daquela altura vertiginosa, e ver a cidade em meio à malha de nuvens. Parte do passadiço era tão estreita que Will temia que, se hesitasse por um segundo que fosse, pudesse mergulhar para a morte na sopa nevoenta que mascarava a queda dos dois lados. Ele prosseguiu, confiando em Imago, que não vacilou nem por um instante, sua forma pesada avançando implacavelmente à frente, deixando pequenos redemoinhos de névoa em sua esteira.
Por fim, depois de descer várias escadas, eles entraram numa sala grande que ecoava o som de água gorgolejante. Imago parou. Parecia estar ouvindo alguma coisa.
— Onde está o Bartleby? — sussurrou Tam para Cal quando eles para-ram.
— Ele nos salvou de um farejador — disse Cal num tom infeliz e tombou a cabeça. — Não veio atrás de nós. Acho que pode estar morto.
Tam pôs o braço no ombro de Cal e o abraçou.
— Ele era um príncipe entre os animais — disse Tam. Ele afagou Cal nas costas para consolá-lo antes de avançar para consultar Imago aos sussurros.
— Acha que devemos nos esconder por um tempo?
— Não, é melhor tentar escapar. — A voz de Imago era calma e sem pressa. — A Divisão sabe que os meninos ainda estão em algum lugar por aqui e em breve isto ficará infestado de patrulheiros.
— Então vamos continuar — concordou Tam.
Os quatro andaram em fila pela sala e passaram por uma colunata até que Imago saltou um muro baixo e deslizou por um barranco viscoso, entrando em uma vala funda. Os meninos o seguiram na água estagnada que vinha até as coxas, e uma folhagem espessa de algas negras e viscosas estorvavam seus movimentos. Eles andaram laboriosamente por ali, as bolhas letárgicas subindo e estourando na superfície. Embora estivessem de máscara, chegava a sua garganta o fedor pútrido da vegetação há muito morta. A vala transformou-se num canal subterrâneo e eles submergiram na escuridão, o espadanar dos corpos ecoando ao redor até que, depois do que pareceu uma eternidade, eles saíram em espaço aberto de novo. Imago sinalizou para que parassem, depois se apressou à lateral do canal, espadanando na névoa.
— Aqui é um pouco arriscado — alertou Tam a eles aos sussurros. — É terreno aberto. Fiquem atentos e mantenham-se juntos.
Logo Imago voltou e acenou. Eles saíram da água e, com as botas e as calças ensopadas, atravessaram o terreno pantanoso, a cidade finalmente atrás do grupo. Subiram uma escarpa e pareceram chegar a uma espécie de platô. O estado de espírito de Will se animou quando ele viu as aberturas na parede da caverna à frente e entendeu que tinham chegado à parte de trás do Labirinto. Eles conseguiram.
— Macaulay! — gritou uma voz aguda e ríspida.
Todos pararam de imediato e giraram o corpo. A neblina estava mais esgarçada ali, no terreno mais elevado, e através dos fiapos que afinavam eles viram uma única figura. Era um Styx, sozinho. Estava parado, altaneiro e arrogante, com os braços cruzados no peito estreito.
— Ora, ora, ora. É engraçado como os ratos sempre usam os mesmos percursos... — gritou ele.
— Mosca — respondeu Tam friamente ao empurrar Cal e Will para I-mago.
— ...deixando sua gordura e seu rastro fétido pelos lados. Eu sabia que um dia ia pegá-lo; era só uma questão de tempo. — O Mosca descruzou os braços e os bateu como chicotes. O coração de Will parou uma batida ao ver duas lâminas brilhantes aparecerem nas mãos do Styx. Curvas e com uns quinze centímetros, elas pareciam pequenas foices.
— Você vem sendo uma pedra no meu sapato há muito tempo — gritou o Mosca.
Will olhou para Tam e ficou surpreso ao ver que já estava armado, com um facão brutal que ele parecia ter conjurado do nada.
— Está na hora de eu corrigir alguns erros — disse Tam numa voz urgente e baixa para Imago e os meninos. Eles viram a determinação feroz em seus olhos. Tam virou-se para o Mosca. — Vocês vão andando. Eu os alcanço depois — gritou Tam para eles ao começar a avançar.
Mas a figura sombria, com feixes de névoa enroscando-se em volta dele, não se moveu um centímetro. Brandindo as foices com um floreio de especialista e agachando-se um pouco, o Styx tinha a aparência de algo terrivelmente sobrenatural.
— Isto não está certo. O desgraçado está confiante demais murmurou Imago. — Precisamos sair daqui. — Ele arrastou os meninos protetoramente para uma das bocas de túnel do Labirinto enquanto Tam se aproximava do Mosca.
— Ah , não... não... — Imago parou de respirar.
Will e Cal se viraram, procurando pela origem do alarme. Uma massa de Styx aparecera pela névoa e se espalhava em um arco amplo. Mas o Mosca ergueu uma foice cintilante e eles pararam abruptamente a pouca distância dele, balançando-se e remexendo-se de impaciência.
Tam parou, interrompendo-se por um instante como se ponderasse sobre suas chances. Sacudiu a cabeça apenas uma vez, depois a ergueu, desafiador. Tirou o capuz e respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar desagradável.
Como resposta, o Mosca arrancou os óculos de proteção e o aparato respiratório, largando-os a seus pés e chutando-os de lado. Tam e o Mosca se aproximaram um passo, depois pararam. Enquanto se encaravam como dois boxeadores adversários, Will estremeceu com o sorriso frio e sardônico na cara magra do Styx.
Os meninos mal ousaram respirar. O lugar ficou mortalmente silencioso, como se todos os sons tivessem sido sugados do mundo.
O Mosca fez o primeiro movimento, os braços chicoteando um sobre o outro enquanto avançava. Tam recuou para evitar a barragem de aço e, pulando de lado, elevou o facão num movimento defensivo. As lâminas dos dois homens se encontraram e rasparam com um guincho metálico de arrepiar.
Com uma destreza inacreditável, o Mosca girou como se realizasse algum ritual de dança, avançando e recuando para Tam, golpeando sem parar com as duas lâminas. Tam retaliava com punhaladas e movimentos de evasão e os dois oponentes atacavam, defendiam-se e atacavam alternadamente. Cada golpe era tão arrasadoramente rápido que Cal e Will não se atreviam a piscar. Enquanto olhavam, houve outra saraivada de prata e cinza e de repente os dois homens estavam tão perto que podiam se abraçar, as lâminas afiadas de suas armas moendo-se friamente. Quase com a mesma rapidez, eles recuaram, respirando mal. Houve uma trégua e os olhos dos dois homens continuaram fixos um no outro, mas Tam parecia adernar um pouco e apertava a lateral do corpo.
— Isso não é bom — disse Imago em voz baixa.
Will também entendeu. Entre os dedos de Tam e descendo por seu casaco, escorriam faixas escuras de um líquido que parecia uma tinta preta e inofensiva sob a luz verde da cidade. Ele estava ferido e sangrava muito. Recuou devagar e, aparentemente recuperado, num átimo girou o facão para o Mosca, que pulou de lado com facilidade e o atingiu no rosto.
Tam se encolheu e recuou. Imago e os meninos viram o trecho escuro que agora se espalhava pela bochecha esquerda.
— Ah, meu Deus — disse Imago baixinho, segurando com tanta força a gola dos dois meninos que Will podia sentir seus braços tensos durante o reinicio da luta.
Tam atacou outra vez, o Mosca rodopiando para trás e para frente, para um lado e outro, em sua dança leve e estilizada. Os golpes de Tam eram decisivos e habilidosos, mas o Mosca era veloz demais e de vez em quando a lâmina do facão só encontrava o ar nevoento. Ao girar para ficar de frente para o adversário esquivo, Tam perdeu o pé. Tentando se endireitar, suas botas escorregaram inutilmente. Ele estava desequilibrado, numa posição vulnerável. O Mosca não podia perder a oportunidade. Partiu para o flanco exposto de Tam.
Mas Tam estava preparado. Estivera esperando por este momento. Ele mergulhou para frente e se ergueu por dentro da guarda do opoente, subindo o facão como um raio, tão habilidosamente que Will não conseguiu ver o golpe arrasador no pescoço do Mosca.
O ar entre os dois combatentes se encheu de uma espuma negra enquanto o Mosca cambaleava para trás. O Styx largou as duas foices no chão e soltou um gorgolejar sangrento e sibilante ao agarrar a veia cortada.
Como um matador dando o golpe de misericórdia, Tam avançou, usando as duas mãos no golpe final. A lâmina afundou no meio do peito do Mosca. Ele soltou um silvo borbulhante e agarrou os ombros de Tam para se equilibrar. Olhou com descrença o punho de madeira tosca que se projetava de seu esterno, depois levantou a cabeça. Por um momento, os dois ficaram ali, absolutamente imóveis, como duas estátuas num trágico quadro vivo, encarando-se num reconhecimento mudo.
Depois Tam apoiou um pé no Mosca e recuperou o facão. O Styx balançou onde estava, como um boneco suspenso por fios invisíveis, a boca formando palavrões vazios e sem fôlego.
Imago e os meninos ficaram olhando o homem mortalmente ferido soltar um último rosnado asfixiado para Tam e, cambaleando para trás, desabar no chão num monturo sem vida. Sussurros excitados passaram pelas fileiras de Styx, que pareciam paralisados, sem saber o que deviam fazer.
Tam não perdeu tempo com tal hesitação. Segurando a lateral ferida do corpo e fazendo uma careta de dor, ele disparou para se juntar a Imago e os garotos. Isto por sua vez mobilizou os Styx, que avançaram e formaram um círculo em torno do corpo do companheiro caído.
Tam já estava levando Imago e os meninos pela passagem do Labirinto. Mas mal tinham percorrido alguma distância quando ele caiu de lado e procurou a parede para se apoiar. Respirava mal e o suor jorrava dele. Escorria por seu rosto, misturando-se ao sangue das lacerações e pingando no queixo eriçado.
— Eu vou segurá-los - arfou ele, olhando a abertura do túnel atrás. - Vou ganhar algum tempo para vocês.
— Não vai, não — disse Imago. — Você está ferido.
— Estou acabado, de qualquer forma — disse Tam baixinho.
Imago olhou o sangue que empoçava na aba aberta do peito de Tam e seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Enquanto Imago lhe passava seu facão, ficou claro que a decisão já fora tomada.
— Não, tio Tam! Por favor, venha conosco — implorou Cal numa voz sufocada, sabendo muito bem o que isto significava
— Assim estaremos todos perdidos, Cal — disse Tam, sorrindo languidamente e pegando-o com um braço. Ele colocou a mão na camisa, tirando alguma coisa do pescoço e apertando na mão de Will. Era um pingente liso com um símbolo entalhado.
— Fique com isto — disse Tam rapidamente. — Pode vir a ser útil no lugar aonde vai. — Ele soltou Cal e se afastou um passo, mas depois se segurou em Will, os olhos sem deixar o menino mais novo. — E vai cuidar de Cal, não vai, Will? — Tam aumentou o aperto. — Prometa-me isto.
Will sentia-se tão entorpecido que antes que pudesse encontrar as palavras, Tam havia se afastado dele.
Cal começou a gritar freneticamente.
— Tio Tam... venha... venha conosco...
— Tire-os daqui, Imago — gritou Tam de volta à boca do túnel e, ao fazer isso, todo o horror do exército Styx que se aproximava assomou ao longe.
Cal ainda gritava o nome de Tam e não demonstrava a menor intenção de ir a lugar algum quando Imago o agarrou pela gola e o despachou ferozmente antes de entrar no túnel. O menino atormentado não teve alternativa a não ser fazer o que Imago queria, e seus gritos de imediato deram lugar a uivos de angústia e a um choro incontrolável. Will recebeu um tratamento igualmente rude enquanto Imago repetidamente lhe batia nas costas para impeli-lo a andar. Imago só os soltou por um breve momento, ao fazerem um curva acentuada, e pareceu hesitar. Os três, Will, Cal e Imago, viraram-se e tiveram um último vislumbre do homenzarrão, seu contorno escuro contra o verde da cidade, sustentando dois facões de prontidão ao lado do corpo.
Depois Imago os empurrou novamente e Tam desapareceu de vista para sempre. Mas ardendo nas retinas estava esta última cena, este último quadro de Tam, parado orgulhoso e desafiador diante da maré que se aproximava. Uma figura solitária enfrentando um campo arrepiante de foices desembainhadas.
Mesmo enquanto escapavam, eles podiam ouvir as ofensas urgentes e altas e o choque das lâminas, que ficavam cada vez mais fracos a cada curva do túnel.
Capítulo Trinta e Sete
Eles corriam, e Will segurava o braço com força junto ao corpo, o ombro latejando de dor a cada passo. Não fazia idéia de quantos quilômetros tinham percorrido quando, no final de uma longa galeria, Imago finalmente reduziu o ritmo para que eles pudessem recuperar o fôlego. Graças à largura do túnel, eles podiam ter andado lado a lado, mas preferiram continuar em fila indiana — isso lhes dava alguma solidão, alguma privacidade. Embora não tivessem trocado uma só palavra desde que deixaram Tam para trás na cidade, cada um deles sabia muito bem o que os outros estavam pensando no silêncio infeliz que pairava como uma mortalha sobre eles. Enquanto mourejavam mecanicamente em sua pequena coluna pesarosa, Will pensou que o grupo parecia um cortejo fúnebre.
Ele simplesmente não acreditava que Tam estivesse mesmo morto — a única pessoa na Colônia que era de uma grandeza tal que o aceitara de volta à família sem hesitar nem por um momento. Will tentou levar seus pensamentos a uma espécie de ordem e lidar com a sensação de perda e o vazio que o dominavam, mas as crises freqüentes de choro abafado de Cal não ajudavam.
Eles viraram à esquerda e à direita incontáveis vezes, cada trecho novo de túnel tão idêntico e comum quanto o anterior. Imago não se voltou para o mapa nem uma vez, mas parecia saber precisamente onde estavam indo, de vez em quando murmurando consigo mesmo sob a máscara, como se recitasse um poema interminável, ou mesmo uma oração. Em vários momentos Will percebeu que ele sacudia uma esfera de metal opaca do tamanho de uma laranja quando eles viravam outra esquina, mas ele não fazia idéia do motivo para Imago fazer isto.
Ele ficou surpreso quando Imago os fez parar perto do que parecia ser uma fissura pequena no chão e olhou cuidadosamente para os dois lados do túnel. Depois começou a agitar com vigor a esfera de metal pela abertura da fissura.
— Para que é isso? — perguntou Will a ele.
— Mascara nosso odor — respondeu Imago bruscamente, e enfiou a esfera na mochila de Will, que ele carregava, e a largou na abertura. Depois, ajoelhou e se espremeu primeiro de cabeça pela abertura. Ficou apertado, para dizer o mínimo.
Por uns seis metros a fissura descia quase verticalmente, depois começava a se aplainar, afinando mais adiante em um buraco estreito. O progresso era lento e Will e Cal seguiam atrás, os sons dos grunhidos erráticos de Imago chegando-lhes do alto enquanto ele lutava desesperadamente para passar, empurrando a mochila de Will na frente. Will se perguntava o que eles fariam se Imago ficasse entalado quando chegaram ao final e conseguiram se colocar de pé novamente.
No início, o garoto não conseguiu distinguir muita coisa através da máscara arruinada, com um dos óculos quebrado e o outro fosco de condensação. Foi só quando Imago tirou a máscara e disse a eles para fazerem o mesmo que Will viu onde estavam.
Era uma câmara, com pouco mais de nove metros e num formato quase perfeito de sino, com paredes rudes da textura de carborundo. Várias estalactites pequenas e cinzentas pendiam do meio da câmara, diretamente sobre um círculo de metal enferrujado, que ficava no meio do chão. Ao se arrastarem pela beira da câmara, suas botas espalhavam montes de esferas lisas, que tinham uma cor amarela suja e variavam de tamanho, de ervilhas a grandes bolas de gude.
— Pérolas das cavernas — murmurou Will, lembrando-se das imagens que vira em um dos livros acadêmicos do pai. Apesar de como se sentia, ele de imediato olhou em volta em busca de algum sinal de água corrente, necessária para a formação destas pérolas. Mas o chão e as paredes pareciam tão secos e áridos quanto o resto do Labirinto. E a única maneira de entrar ou sair que Will pôde ver era o buraco por onde acabaram de sair de gatinhas.
Imago o estivera observando e respondeu a sua pergunta muda.
— Não se preocupe... vamos ficar seguros aqui, Will, por algum tempo — disse ele, a cara larga sorrindo de forma tranqüilizadora. — Chamamos este lugar de Caldeirão.
Enquanto Cal tropeçava cansado até o extremo da câmara e escorregava pela parede com a cabeça tombada no peito, Imago se dirigiu novamente a Will.
— Eu devia dar uma olhada nesse braço.
— Não é nada demais — respondeu Will. Não só ele queria ficar sozinho, como também morria de medo de descobrir a gravidade de seus ferimentos.
— Vamos — disse Imago com firmeza, agitando a mão. — Pode infeccionar. Preciso fazer um curativo.
Trincando os dentes, Will respirou fundo e, rígida e desajeitadamente, retirou o casaco e o deixou escorregar para o chão. O tecido da camisa estava firmemente preso nas feridas e Imago teve que soltá-lo aos poucos, começando pela gola e descascando delicadamente. Will observava com mal-estar, estremecendo enquanto eram arrancadas várias cascas úmidas e ele via o sangue fresco sair e escorrer pelo braço já sujo.
— Você se livrou por pouco — disse Imago. Will olhou a face séria de Imago, perguntando-se se ele realmente estava sendo sincero, enquanto ele assentia e continuava. - Devia se considerar um sujeito de sorte. Os fareja-dores costumam pegar as partes do corpo mais vulneráveis.
O antebraço de Will tinha alguns vergões lívidos e dois semicírculos de perfurações dos dois lados, mas agora estes praticamente não sangravam. Ele examinou a vermelhidão no peito e no abdome, depois sentiu as costelas, que só doíam se ele respirasse fundo. Também não havia nenhum dano verdadeiro ali. Mas o ombro era um problema totalmente diferente. Os dentes do animal tinham afundado ali e a carne fora muito maltratada pelo sacudir de cabeça do farejador. Em determinados lugares, estava tão crua e dilacerada que parecia ter sido atingida por um tiro de espingarda.
— Aiiiishhh! — Will expirou alto, virando a cabeça rapidamente enquanto riachos de sangue desciam pelo braço. — Está horrível. — Agora que realmente via, ele se retesou e não conseguiu reprimir o tremor, percebendo o quanto seus ferimentos lhe doíam. Por um momento, todas as forças o abandonaram e ele se sentiu muito fraco e vulnerável.
— Não se preocupe, parece pior do que realmente é — disse Imago num tom tranqüilizador ao verter um líquido claro de um frasco prateado em um pedaço de atadura. — Mas isto vai doer — avisou ele a Will e começou a limpar as feridas. Quando terminou, ele abriu o casaco e estendeu a mão por dentro para desafivelar uma das muitas algibeiras no cinto. Pegou um saco do que parecia tabaco de cachimbo e passou a espalhado amplamente nos ferimentos de Will, concentrando-se nas lacerações no ombro. As fibras secas e pequenas se prenderam às lesões, absorvendo o sangue. — Pode doer um pouco, mas estou quase acabando — acrescentou ele enquanto colocava mais do material por cima, dando tapinhas para que formasse uma cobertura grossa.
— O que é isso? — perguntou Will, atrevendo-se a olhar o ombro de novo.
— Rizomas rasgados.
— Rizomas o quê? — disse Will com alarme. — Espero que saiba o que está fazendo.
— Sou filho de um boticário. Aprendi a fazer um curativo quando era pouco mais velho do que você.
Will relaxou novamente.
— Não precisa se preocupar, Will... já faz tempo que perdi um paciente — disse Imago, olhando de lado para ele.
— Hein? — Meio lento para entender, Will olhou para Imago com alarme.
— É só brincadeira — disse Imago, afagando o cabelo de Will e rindo. Mas apesar da tentativa de aliviar o humor, o garoto viu a imensa tristeza nos olhos de Imago enquanto ele continuava a tratar de seu ombro. — Há um anti-séptico neste cataplasma. Vai deter o sangramento e amortecer os nervos — acrescentou ele, enquanto pegava outra algibeira e tirava um rolo cinza de tecido, que começou a desenrolar. Ele passou o pano habilidosamente em volta do ombro e do braço de Will e, amarrando as pontas com firmeza, recuou para admirar seu trabalho.
— Como está?
— Melhor — mentiu Will. — Obrigado.
— Vai precisar trocar o curativo de vez em quando... precisa levar um pouco disto com você.
— Como assim, comigo? Aonde você vai? — perguntou Will, mas Imago sacudiu a cabeça.
— Tudo em seu tempo. Você perdeu muito sangue e precisa de fluidos. E todos devemos tentar comer alguma coisa. — Imago olhou a forma amarfanhada de Cal. — Vamos. Saia daí, garoto.
Cal se levantou obediente e andou enquanto Imago sentava o corpo enorme, as pernas esticadas na frente, e começava a pegar várias latas de metal opaco no saco de couro. Ele abriu a tampa da primeira e ofereceu a Will, que olhou os pedaços cinzentos e sujos de fungo com uma repulsa que não conseguiu esconder.
— Espero que não se importe — disse Will —, mas trouxemos o nosso.
Imago não pareceu se importar nem um pouco. Simplesmente fechou novamente a lata e esperou Will tirar a comida da mochila. Imago caiu sobre ela com evidente alívio, chupando com ruído as fatias de presunto assado no mel, que ele segurava delicadamente nos dedos sujos. Como se tentasse fazer com que a experiência durasse para sempre, ele rolou a carne ruidosamente na boca antes de mastigá-la. E quando finalmente engoliu, seus olhos se fecharam um pouco e ele soltou suspiros imensos de júbilo.
Cal, por outro lado, mal tocou na comida, futucando-a sem nenhum entusiasmo antes de se retirar novamente para o outro lado da câmara. Will também não tinha muito apetite, em particular depois de testemunhar a performance de Imago. Ele pegou uma lata de Coca-Cola e estava começando a beber quando de repente pensou no pingente verde-jade que Tam lhe dera. Encontrou-o no casaco e o pegou para examinar a superfície opaca. Ainda estava sujo do sangue de Tam, que coagulara nas três marcas entalhadas em uma das faces. Ele a olhou e passou o polegar por ela de leve. Tinha certeza de já ter visto o mesmo símbolo de três dentes em algum lugar. Depois ele se lembrou. Estava naquele marco no Labirinto.
Enquanto Imago se dedicava a uma barra de chocolate, saboreando cada dentada, Cal falou do outro lado da câmara, a voz monótona e indiferente.
— Quero ir para casa. Não me importo mais.
Imago engasgou, cuspindo uma massa de chocolate meio mastigado. Ele girou a cabeça para Cal, a trança do rabo-de-cavalo chicoteando o ar.
— E os Styx?
— Vou falar com eles, vou fazer com que me ouçam — respondeu Cal, fraquinho.
— Eles vão ouvir mesmo, enquanto estiverem arrancando seu fígado ou decepando você membro por membro — repreendeu Imago. — Seu idiotinha, acha que Tam deu a vida dele só para você poder jogar a sua fora?
— Eu... não... — Cal piscava de susto enquanto Imago continuava a gritar.
Ainda segurando firme o pingente, Will o apertou na testa, cobrindo a cara com a mão. Só queria que todos se calassem; não precisava de nada disso. Queria que tudo parasse, pelo menos por um momento.
— Seu egoísta, estúpido... o que você vai fazer, pedir a seu pai ou à vovó Macaulay para escondê-lo... e arriscar a vida deles também? Isto seria péssimo — Imago gritava.
— Eu só pensei...
— Não, não pensou! — interrompeu-o Imago. — Nunca mais vai voltar, entendeu? Enfie isso na sua cabeça dura! — Atirando de lado o resto da barra de chocolate, ele andou até o lado oposto da câmara.
— Mas eu... — Cal começou a dizer.
— Durma um pouco! — grunhiu Imago, a cara rígida de raiva. Ele enrolou o casaco firmemente em torno do corpo e, usando o saco como travesseiro, deitou-se de lado e de cara para a parede.
Ali eles ficaram pela maior parte do dia seguinte, comendo e dormindo alternadamente, quase sem se falarem. Depois de todo o horror e excitação das últimas 24 horas, Will ficou grato pela oportunidade de se recuperar e passou a maior parte do tempo num sono pesado e sem sonhos. Por fim foi despertado pela voz de Imago e abriu letargicamente um olho, vendo o que acontecia ali.
— Venha me dar uma ajuda, sim, Cal?
Cal rapidamente se levantou e se juntou a Imago, que estava ajoelhado no meio da câmara.
— Pesa uma tonelada. — Imago arreganhou os dentes.
Enquanto eles deslizavam para o lado a roda de metal no chão, ficou patente que Imago podia ter feito isso sozinho e que este era o jeito dele de ajeitar as coisas com Cal. Will abriu o outro olho e flexionou o braço. O ombro estava rígido, mas seus ferimentos não doíam quase nada perto do que sentira antes.
Cal e Imago agora estavam deitados no chão, olhando pela abertura circular enquanto o homem lançava a luz por ela. Will engatinhou para ver o que olhavam. Havia um poço de um metro e depois, a escuridão.
— Estou vendo uma coisa brilhando — disse Cal.
— Sim, trilhos de trem — respondeu Imago.
— O Trem dos Mineradores. — percebeu Will ao ver as duas linhas paralelas de ferro polido cintilando na escuridão de breu.
Eles se afastaram do buraco e se sentaram, em volta, esperando ansiosamente que Imago falasse.
— Vai ser uma dureza, porque não temos muito tempo disse ele. — Vocês têm duas opções. Ou ficam por aqui mais um tempo e depois levo vocês à Crosta de novo, ou...
— Não, lá não — disse Cal de imediato.
— Não estou dizendo que vai ser fácil levar vocês lá — admitiu Imago. — Não os três juntos.
— De jeito nenhum! Não vou suportar isso! — Cal elevou a voz até quase gritar.
— Não se precipite — alertou Imago. — Se conseguirmos chegar à Crosta, pelo menos vocês poderão tentar sumir em algum lugar que os Styx não possam achar. Talvez.
— Não — repetiu Cal com absoluta convicção.
Imago agora olhava diretamente para Will.
— Você deve estar ciente... — ele se calou, como se estivesse prestes a dizer alguma coisa tão terrível que não sabia como continuar. — Tam acha... — ele rapidamente se corrigiu com uma careta — ...achava que a menina Styx que se passou por sua irmã da Crosta... — ele tossiu pouco à vontade e enxugou a boca — ...é filha do Mosca. Então Tam simplesmente matou o pai dela lá na cidade.
— O pai de Rebecca? — perguntou Will numa voz perplexa.
— Ah, meu Jesus — resmungou Cal.
— Por que isso é importante? O que... — disse Will, antes que Imago o interrompesse.
— Os Styx não vão deixar passar em branco. Vão persegui-lo, aonde quer que vá. Qualquer um que lhe der abrigo, na Crosta, na Colônia ou até nas Profundezas, também corre perigo. Sabe que eles têm gente em toda a superfície. — Imago coçou a barriga e franziu o cenho. — Mas se Tam tinha razão, isso significa que por mais grave que sua situação estivesse antes, agora está pior. É você quem corre o maior risco. Agora você está marcado.
Will tentou absorver o que acabara de ouvir, sacudindo a cabeça com a injustiça e a iniqüidade de tudo aquilo.
— Então está dizendo que se eu for para a Crosta, vou ter que fugir sem parar. E se for para a casa da tia Jean, então...
— Ela morrerá. — Imago se remexia pouco à vontade no chão de pedra poeirenta. — É assim que as coisas são.
— Mas o que você vai fazer, Imago? — perguntou Will, achando impossível apreender a situação em que se encontrava.
— Não posso voltar para a Colônia, isto é certo. Mas não se preocupe comigo, são vocês dois que precisam decidir.
— Mas o que eu devo fazer? — perguntou Will, olhando para Cal, que encarava a abertura no chão, e depois para Imago, que só dava de ombros inutilmente, fazendo com que Will se sentisse ainda pior. Ele estava total-mente perdido. Era como se estivesse participando de um jogo em que só se conheciam as regras depois de se cometer um erro. — Bom, acho que não há mais nada na Crosta para mim. Não agora — murmurou ele, tombando a cabeça. — E meu pai está aí embaixo... em algum lugar.
Imago pegou o saco e vasculhou seu conteúdo, tirando alguma coisa embrulhada em um velho pedaço de juta, que entregou a Will.
— O que é isso? — murmurou Will, desdobrando a juta. Com tantos pensamentos disparando por sua cabeça, ele estava numa confusão tal que precisou de vários segundos para avaliar o que Imago lhe dera.
Era um monte achatado e sólido de papel que cabia facilmente em seu punho. Com as bordas rasgadas e irregulares, evidentemente tinha sido imerso em água e depois colocado para secar, os pedaços amontoados num papier mâché rude. Ele olhou inquisitivamente para Imago, que não fez comentário nenhum, então Will começou a afastar as camadas mais externas, como quem tira as folhas dessecadas de uma cebola antiga. Enquanto arranhava as bordas peludas com a unha, não precisou de muito tempo para separar os pedaços de papel. Depois ele os deitou para examinar mais de perto sob a luz.
— Não! Não acredito nisso! É a letra do meu pai! — disse ele com surpresa e deleite ao reconhecer o garrancho característico do dr. Burrows em vários fragmentos. Eles estavam sujos de lama e a tinta azul tinha escorrido, deixando muito pouca coisa legível, mas Will ainda conseguia decifrar parte do que fora escrito.
— Vou retomar — recitou Will de um fragmento, passando rapidamente aos outros e examinando um de cada vez. — Não, esse está manchado demais — murmurou ele. — Aqui também, nada — continuou. — Não sei... umas palavras estranhas... não faz sentido nenhum... mas... Ah, aqui diz Dia 15! — Ele continuou a esfregar outros fragmentos até parar com um sobressalto. — Este pedaço — exclamou ele empolgado, segurando a tira de papel na luz — fala em mim! — Ele olhou para Imago, um leve tremor na voz. — Se meu filho, Will, tivesse, é o que diz! — Com uma expressão confusa, ele virou o fragmento para ver o verso, mas descobriu que estava em branco. — Mas o que meu pai quis dizer? O que eu deixei de fazer? O que eu devia ter feito? — Will olhou novamente para Imago, procurando a ajuda dele.
— Não pergunte a mim — disse o homem.
O rosto de Will se iluminou.
— O que quer que estivesse dizendo, ele ainda pensava em mim. Ele não se esqueceu de mim. Talvez ele sempre tenha esperado que de um jeito ou de outro eu fosse atrás dele, que fosse encontrá-lo. — Ele assentia vigorosamente enquanto a idéia se formava num crescendo em sua cabeça. — Sim, é isso... deve ser isso!
Algo mais lhe ocorreu naquele momento, desviando seus pensamentos.
— Imago, isto veio do diário do meu pai. Onde conseguiu? — Will de imediato imaginou o pior. — Ele está bem?
Imago esfregou o queixo pensativamente.
— Não sei. Como Tam lhe disse, ele tinha bilhete só de ida no Trem dos Mineradores. — Esticando o polegar na direção do buraco no chão, ele continuou: — Seu pai está em algum lugar aí embaixo, nas Profundezas. Provavelmente.
— Sim, mas onde você conseguiu isso? — perguntou Will com impaciência, fechando a mão nas tiras de papel e mantendo-as na palma.
— Mais ou menos uma semana depois de chegar à Colônia, ele vagou pelos arredores dos Cortiços e foi atacado. — A voz de Imago ficou um tanto incrédula a esta altura. — Se a história é verdadeira, ele estava parando as pessoas e lhes fazendo perguntas. Rodar por aquelas bandas não é bom para ninguém, e menos ainda para gente da Crosta, que fica se intrometendo, e ele levou uma boa surra. Pelo que dizem, ele só ficou lá, sem sequer tentar enfrentar uma briga. Isto deve ter salvado sua vida.
— Pai — disse Will, as lágrimas enchendo os olhos ao imaginar a cena. — Coitado do papai.
— Bem, não deve ter sido tão ruim. Ele saiu andando de lá. Imago esfregou as mãos e o tom de voz mudou, tornando-se mais pragmático. — Mas isso é irrelevante. Precisa me dizer o que quer fazer. Não podemos ficar aqui para sempre. — Ele olhou incisivamente para cada um dos garotos. — Will? Cal?
Os dois ficaram em silêncio por um tempo, até que Will falou.
— Chester! — Ele nem acreditava que, com tudo o que tinha acontecido, esquecera-se completamente do amigo. — Não importa o que você disser, eu tenho que voltar a ele — disse Will resoluto. — Eu devo isso a ele.
— O Chester vai ficar bem — disse Imago.
— Como pode saber disso? — Will de imediato o olhou.
Imago simplesmente sorriu.
— Então, onde ele está? — perguntou Will. — Ele está bem mesmo?
— Confie em mim — disse Imago enigmaticamente.
Will olhou em seus olhos e viu que o homem falava a sério. Sentiu um alívio enorme, como se um peso esmagador tivesse sido retirado dos ombros. Disse a si mesmo que se alguém podia salvar o amigo, este alguém era Imago. Ele soltou o ar longamente e ergueu a cabeça.
— Bom, neste caso, as Profundezas.
— E eu vou com você — intrometeu-se Cal rapidamente.
— Os dois têm absoluta certeza disso? — perguntou Imago, olhando duro para Will. — Parece o inferno por lá. Vocês ficariam melhor na Crosta, pelo menos você conhece o território.
Will sacudiu a cabeça.
— Só o que me resta é o meu pai.
— Bem, se é o que você quer. — A voz de Imago era baixa e sombria.
— Não há nada para nós na Crosta, não agora — respondeu Will, fitando o irmão.
— Tudo bem, então está decidido — disse Imago, olhando o relógio. — Agora procurem dormir um pouco. Vão precisar de toda a força que tiverem.
Mas nenhum deles conseguiu dormir, e Imago e Cal acabaram conversando sobre Tam. Imago regalava o menino com histórias das explorações do tio, até rindo às vezes, e Cal não conseguiu deixar de se juntar a ele. Imago claramente extraía conforto das lembranças das proezas que ele, Tam e a irmã aprontaram na juventude, quando passavam a perna nos Styx.
— Tam e Sarah eram igualmente terríveis, posso lhe dizer. Uma dupla de felinos selvagens. — Imago sorriu com tristeza.
— Conte a Will sobre os Sapos de Taquara — disse Cal, cutucando-o.
— Ah , meu Deus, sim... — Imago riu, lembrando do incidente. — Foi idéia da sua mãe, sabia? Pegamos um barril cheio deles nos Cortiços... Os pervertidos de lá se drogam comendo essas coisas. É um hábito perigoso; toxina demais pode fritar seu cérebro. — Imago ergueu as sobrancelhas. — Sarah e Tam levaram os sapos a uma igreja e os soltaram pouco antes de começar o serviço religioso. Devia ter visto... uns cem bichinhos viscosos saltando por toda parte... as pessoas pulando e gritando, e mal se podia ouvir o pregador com todo aquele coaxar... brup, brup, brup. — O homem rotundo se balançou numa risada silenciosa, depois sua testa franziu e ele foi incapaz de continuar.
Com toda aquela conversa sobre a mãe verdadeira, Will se esforçara ao máximo para ouvir, mas estava cansado e preocupado demais. A seriedade da situação ainda tinha prioridade em sua mente e seus pensamentos eram pesados de apreensão sobre o que se comprometera a fazer. Uma jornada ao desconhecido. Será que estava preparado para isto? Ia fazer a coisa certa, para si mesmo e para seu irmão?
Ele saiu de sua introspecção ao ouvir Cal de repente interromper Imago, que tinha começado outra história.
— Acha que Tam podia ter conseguido? — perguntou Cal. — Sabe como é... fugido?
Imago desviou os olhos dele rapidamente e começou a desenhar distraído com o dedo na poeira, claramente sem palavras. E, no silêncio que se seguiu, a tristeza intensa inundou a face de Cal.
— Nem acredito que ele não está mais aqui. Ele era tudo para mim.
— Ele lutou com todos eles por sua vida — disse Imago, a voz distante e tensa. — Ele não era nenhum santo, isto é certo, mas nos deu uma coisa... esperança... e isso torna tudo suportável para nós. — Ele parou, os olhos fixos em um ponto distante para além da cabeça de Cal. — Com o Mosca morto, haverá expurgos... e castigos do tipo que não vemos há anos. — Ele pegou uma pérola das cavernas e a examinou. — Mas eu não voltaria à Colônia, nem que pudesse. Acho que todos agora estamos sem um lar — acrescentou ele ao lançar a pérola no ar com o polegar e, com absoluta precisão, ela caiu no meio do poço.
Capítulo Trinta e Oito
– Por favor! — Chester choramingava dentro do capuz pegajoso, que se grudava em sua cara e no pescoço com o suor frio. Depois de o terem arrastado da cela e levado pelo corredor até a frente da delegacia, eles enfiaram um saco rude em sua cabeça e amarraram seus pulsos. Em seguida deixaram-no parado ali, envolto na escuridão sufocante, com os sons abafados vindo de toda parte.
— Por favor! — gritou Chester em puro desespero.
— Cale-se! — rebateu uma voz áspera a centímetros atrás de sua orelha.
— O que está acontecendo? — pediu Chester.
— Você vai fazer uma pequena viagem, meu filho, uma pequena viagem — disse a mesma voz.
— Mas eu não fiz nada! Por favor!
Ele ouviu botas batendo em um piso de pedra enquanto era empurrado detrás. Ele cambaleou e caiu de joelhos, incapaz de se levantar com as mãos amarradas às costas.
— Levante-se!
Chester foi içado de pé e parou vacilante, as pernas feito gelatina. Sabia que este momento ia chegar, que seus dias estavam contados, mas não tinha como descobrir como seria quando acontecesse. Ninguém falava com ele no Cárcere, nem ele fazia muito esforço para perguntar, tão petrificado estava em não provocar qualquer retaliação do Segundo Oficial e seus guardas.
Então Chester viveu como um condenado que só podia imaginar como seria seu falecimento. Agarrava-se a cada segundo precioso que lhe restava, tentando fazer com que não lhe escapassem e morrendo um pouco por dentro quando, um após outro, eles se esvaíam. Agora a única coisa que podia lhe dar consolo era saber que tinha uma viagem de trem pela frente: então pelo menos lhe restava algum tempo. Mas, e depois? E como eram essas Profundezas? O que acontece-ria com ele lá?
— Ande!
Ele cambaleou alguns passos para frente, inseguro de seu andar e incapaz de ver alguma coisa. Tropeçou em algo duro e o som em volta dele pareceu mudar. Ecos. Gritos, mas de longe, de um espaço maior.
De repente houve o clamor de muitas vozes.
Ah, não!
Ele sabia sem sombra de dúvida exatamente onde estava — estava na calçada da delegacia. E o que estava ouvindo era o berro de uma turba. Se estava assustado antes, agora era muito pior. Uma turba. As zombarias e vaias ficaram mais altas, e ele se sentiu sendo erguido sob os braços e guindado. Estava na rua principal; sentiu a superfície irregular dos paralelepípedos quando seus pés puderam tocar o chão.
— Eu não fiz nada! Quero ir para casa!
Ele ofegava muito, lutando para respirar através do tecido grosso do capuz, que, ensopado da própria saliva e das lágrimas, era sugado para a boca a cada respiração.
— Me ajude! Alguém! — Sua voz era tão angustiada e distorcida que quase lhe era irreconhecível. Ainda assim, os gritos loucos vinham de todo lado.
— LIXO DA CROSTA!
— ENFORQUE-O!
Tomou forma um grito repetido por muitas vozes. Ladrava sem parar.
— LIXO! LIXO! LIXO!
Estavam gritando para ele, essa gente toda gritava para ele! Seu estômago revirou com a pura percepção. Ele não podia vê-los e isso tornava tudo pior. Estava tão apavorado que pensou que ia desmaiar.
— LIXO! LIXO! LIXO!
— Por favor... parem. Por favor... me ajudem! Por favor... por favor, me ajudem... por favor... — Ele estava hiperventilando e chorando ao mesmo tempo, não conseguia evitar.
— LIXO! LIXO! LIXO!
Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer!
O único pensamento pulsava em sua mente, um contraponto ao canto repetido da turba. Estavam tão perto de Chester agora, perto o bastante para ele sentir o fedor coletivo e o cheiro abominável de seu ódio conjunto.
— LIXO! LIXO! LIXO!
Parecia que ele estava no fundo de um poço, com um vórtice de barulhos, gritos e risos cruéis girando em volta dele. Não conseguia suportar mais. Precisava fazer alguma coisa. Ele tinha que fugir!
Num terror cego, ele tentou se libertar, lutando e retorcendo o corpo, em convulsão contra seus captores. Mas as mãos enormes só o agarraram com uma selvageria ainda maior e os gritos e risos coléricos chegaram a um tom febril com este novo espetáculo. Exausto e percebendo que era inútil, ele gemeu.
— Não... não... não... não...
Uma voz nauseante e íntima veio de tão perto que ele sentiu os lábios do orador roçarem em sua orelha.
— Agora vamos, Chester, endireite-se! Não quer decepcionar todas essas damas e cavalheiros, não é? — Chester percebeu que era o Segundo Oficial. Ele devia estar apreciando cada segundo disso.
— Deixe que eles dêem uma olhada em você! — disse mais alguém. — Deixe que eles o vejam como você é!
Chester sentia-se entorpecido... desolado. Não acredito nisso. Não acredito nisso.
Por um momento foi como se toda a gritaria e as vaias tivessem parado. Como se ele estivesse no olho de um furacão, como se o próprio tempo tivesse cessado. Então, mãos pegaram-no pelos tornozelos e pernas, guiando-os a uma espécie de escada.
E agora? Ele foi conduzido a um banco e atirado em seu encosto, sentado.
— Levem-no! — berrou alguém. A multidão vaiou, e houve gritos arrebatados e uivos de lobo.
Onde quer que estivesse, avançou para a frente. Ele pensou ter ouvido o bater de cascos de cavalos. Uma carruagem? Sim, uma carruagem!
— Não me obriguem a ir! Isso não está certo! — implorou ele.
Ele começou a tagarelar, as palavras sem sentido nenhum.
— Vai receber exatamente o que merece, meu rapaz! — disse uma voz à direita dele, num tom quase de confidente. Era o Segundo Oficial de novo.
— E é bom demais para você — veio outra voz que ele não reconheceu, desta vez da esquerda. Chester agora tremia incontrolavelmente.
Então é assim! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Então é assim!
Ele pensou em sua casa, e as lembranças de ver televisão em tantas manhãs de sábado estouraram em sua cabeça. Momentos felizes e acalentados de normalidade com a mãe na cozinha preparando o café-da-manhã, o cheiro da comida no ar e o pai gritando do segundo andar para saber se já estava pronto. Era como se ele estivesse se recordando de outra vida, a vida de outra pessoa, de outra época, em outro século.
Eu nunca mais os verei. Eles se foram... tudo se foi... acabado... para sempre!
Sua cabeça afundou no peito. Ele ficou flácido enquanto se espalhava por todo o corpo a percepção fria como pedra de que tudo se acabara.
Eu estou ACABADO.
Da sola dos pés ao alto da cabeça, ele estava tomado por um desespero esmagador. Como se tivesse sido paralisado, sua respiração lentamente saiu dos lábios, pressionando com um som animal involuntário, meio gemido, meio ganido. Um som medonho e cheio de pavor e resignação, de abandono.
Pelo que pareceu uma eternidade ele não respirou, a boca abrindo-se, fechando, abrindo-se, como a de um peixe encalhado. Seus pulmões vazios arderam da falta de ar até que finalmente todo o corpo deu um solavanco. Ele respirou numa lufada dolorosa pelo tecido obstrutivo do capuz. Obrigando-se a levantar a cabeça, ele soltou um último grito de desespero total e definitivo.
— WWWWWWWWWWWIIIIIILLLLLLLLLLLLLLL!
Will ficou surpreso ao descobrir que cochilara de novo. Ele acordou, desorientado e sem fazer idéia de quanto tempo realmente dormira, enquanto uma vibração surda e distante o agitou. Não conseguia situar o que era, e de qualquer forma ele foi inundado pela realidade fria e dura da decisão de ir para as Profundezas. Era como se tivesse acordado de um pesadelo.
Ele viu Imago agachado junto ao poço, inclinando a cabeça para o som, escutando. Depois todos eles ouviram muito bem; o trovão distante ficava cada vez mais alto a cada segundo, até que começou a reverberar na câmara. Por orientação de Imago, Will e Cal aproximaram-se vacilantes da abertura e se prepararam. Enquanto os dois sentavam-se com as pernas penduradas na beira, ao lado deles Imago inclinava a cabeça e os ombros para o poço, pendurando-se ao máximo que podia.
— Vira a curva devagar — eles o ouviram gritar, e o barulho ficou cada vez mais intenso, até que toda a câmara vibrava em volta deles. — Lá vem ele. Bem no horário! — Ele se puxou para fora, ainda observando os trilhos abaixo e se ajoelhando entre os meninos.
— Têm certeza de que é o que vocês querem? — perguntou-lhes Imago.
Os meninos se olharam e assentiram.
— Temos certeza — disse Will. — Mas Chester...?
— Já lhe falei, não se preocupe com ele — disse Imago com um sorriso que encerrava o assunto.
A câmara agora tremia com o som do trem que se aproximava, como se milhares de tambores estivessem batendo na cabeça dos três.
— Façam exatamente o que eu disse... precisa ser cronometrado à perfeição, então quando eu disser pulem, vocês pulam! — orientou Imago.
A câmara se encheu do veneno acre de enxofre. Depois, enquanto o rugido do motor chegava a um crescendo, um jato de fuligem saiu pela abertura como um gêiser preto. Pegou Imago direto na cara, borrifando-o com sujeira e fazendo-o piscar. Todos tossiram com a fumaça espessa e pungente que inundava o Caldeirão, engolfando-os.
— PREPARAR... PREPARAR... — gritou Imago, atirando as mochilas no escuro abaixo deles. — CAL, PULE!
Por uma fração de segundo Cal hesitou e Imago de repente o empurrou. Ele caiu no poço, uivando de surpresa.
— VÁ, WILL! — gritou Imago de novo, e Will se jogou da beira do poço.
As laterais passaram num raio e depois ele estava lá fora, caindo num vórtice de barulho, fumaça e escuridão, os braços e pernas chocalhando e uma luz branca e pura explodiu em volta dele, uma luz que ele sequer podia compreender. Pontos luminosos pareciam saltar sobre ele como estrelas cadentes e, por um momento muito curto, ele realmente se perguntou se tinha morrido.
Estava deitado e imóvel, ouvindo a batida ritmada do motor em algum lugar acima e o ritmo das rodas enquanto o trem ganhava velocidade. Sentiu o vento no rosto e observou as longas tiras de fumaça passarem por ele. Não, isto não era um paraíso industrial, ele estava vivo!
Resolveu não se mexer por um momento, enquanto mentalmente checava a si mesmo, certificando-se de que não tinha quebrado nenhum osso além de sua lista já próspera de lesões. Inacreditavelmente, além de alguns poucos arranhões, tudo parecia estar intacto e funcionando bem.
Ficou deitado ali. Se não estava morto, não conseguia entender a luz forte e fluente que ainda via ao redor, como uma pequena aurora. Ele se colocou sobre um cotovelo.
Incontáveis globos luminosos, do tamanho de bolas de gude grandes, rolavam em volta do chão arenoso do trilho, chocando-se e quicando uns nos outros em trajetos ao acaso. Alguns ficaram presos nos barriletes do chão e se escureciam um pouco ao serem tocados, até que se desprendiam e pulavam em seu caminho de novo, lampejando mais uma vez.
Depois, Will olhou para trás e encontrou os restos do engradado e o envoltório de palha. Tudo ficou claro. Sua queda tinha quebrado uma caixa de globos luminosos, que se abriu quando ele pousou. Agradecendo por sua sorte, sentiu-se animado e serviu-se de vários punhados das luzes, enfiando-as nos bolsos.
Ficou de pé, equilibrando-se contra o movimento do trem. Embora a fumaça fedorenta se espalhasse espessa em volta dele, os globos soltos iluminavam o vagão com tal efeito que ele conseguia vê-lo em detalhes. Era enorme. Devia ter quase trinta metros de extensão e metade disso de largura, muito maior e mais sólido do que qualquer trem que vira na Crosta. Era construído de placas de ferro feito lajes, rudemente unidas. Os painéis laterais estavam amassados e cobertos de ferrugem, e o chão era gasto e empenado, como se o vagão tivesse séculos de uso intenso.
Ele caiu novamente e, com os joelhos ralando no saibro do chão e o movimento do vagão jogando-o para os lados, foi em busca de Cal. Atravessou vários outros engradados feitos da mesma madeira fina daquele que tinha esmagado e então, perto da frente do vagão, localizou a bota de Cal encostada em outra fila de caixas.
— Cal, Cal! — gritou ele, andando freneticamente de quatro para o irmão. No meio de uma massa de madeira lascada, o menino ainda estava imóvel, parado demais. Seu casaco estava sujo de um líquido escuro e Will pôde ver que havia algo errado em seu rosto.
Temendo o pior, Will gritou mais alto. Sem querer esbarrar em Cal, caso ele estivesse gravemente ferido, ele subiu, rápido, ao alto dos engradados. Com medo do que estava prestes a ver, ergueu devagar um globo luminoso acima da cabeça de Cal. Não parecia bom. Seu rosto e o cabelo estavam pegajosos de uma polpa vermelha.
Will estendeu a mão com cuidado e estava tocando a vermelhidão úmida na face do irmão quando percebeu as formas verdes e quebradas espalhadas em volta dele. E havia caroços presos na testa de Cal. Will retirou a mão e sentiu o gosto dos dedos. Era melancia! Ao lado de Cal, outro engradado quebrado. Enquanto Will o afastava para ganhar espaço, tangerinas, peras e maçãs cuspiram para fora. O irmão evidentemente teve uma queda macia, esmagando engradados de frutas.
— Graças a Deus — repetia Will ao sacudir Cal delicadamente pelos ombros, tentando agitar a forma flácida. Mas a cabeça dele tombava sem vida de um lado para outro. Sem saber o que fazer, Will pegou o punho do irmão para verificar a pulsação.
— Me solta, sim! — Cal puxou o braço para longe de Will enquanto abria lentamente os olhos e gemia, cheio de autopiedade. — Minha cabeça dói — reclamou ele, esfregando a testa ternamente. Levantou o outro braço e olhou confuso para a banana em sua mão. Depois sentiu um cheiro fragrante de frutas em volta e olhou para Will sem compreender.
— O que aconteceu? — gritou ele por sobre o estrondo do trem.
— Uma sorte do caramba, você caiu no vagão-restaurante! — Will ria.
— Hein?
— Não importa. Tente se sentar — sugeriu Will.
— Daqui a pouco. — Cal estava grogue, mas parecia não estar ferido, a não ser por alguns cortes e hematomas e um banho farto de suco de melancia. Então Will engatinhou de volta aos engradados e começou a investigar. Ele sabia que devia pegar as mochilas nos vagões na frente, mas não havia pressa. Imago disse que seria uma longa viagem e, de qualquer forma, sua curiosidade o estava dominando.
— Eu vou... — gritou ele para Cal.
— Quê? — Cal colocou a mão em concha na orelha.
— Explorar. — Will fez a mímica.
— Tudo bem! — gritou Cal para ele.
Will andou pelo mar desordenado de globos luminosos na traseira do vagão e subiu no último painel. Espiou o engate entre os vagões e o brilho polido dos trilhos muito usados disparou hipnoticamente por baixo. Depois olhou o vagão seguinte, só a um metro de distância e, sem parar para pensar, guindou-se por sobre o espaço. Graças ao movimento do trem, foi desajeitado, mas ele conseguiu atravessar e se escarranchou nos dois últimos painéis, depois não teve alternativa a não ser pular.
Ele caiu no vagão seguinte e rolou sem controle no chão até parar junto a uma pilha de sacos de lona. Não havia nada digno de nota a não ser mais algumas caixas a meio caminho dali. Então, engatinhou para a parte de trás e ficou de pé novamente. Tentou ver o final do trem, mas a combinação de fumaça e escuridão tornava isto impossível.
— Quantos são? — gritou Will para si mesmo ao trepar no último obstáculo. À medida que repetia o processo ao longo de sucessivos vagões, ele finalmente pegou o jeito e descobriu que podia pular e se equilibrar antes de cair. Estava consumido de uma curiosidade ardente para encontrar o final do trem, mas ao mesmo tempo preocupado com o que podia achar. Ele foi alertado por Imago de que era mais provável que houvesse um colono no vagão de segurança, então precisava seguir com cuidado.
Havia saltado para a beira do quarto vagão e engatinhava por um encerado frouxo quando alguma coisa se agitou atrás dele.
— O que...? — Apavorado por ter sido flagrado, Will impeliu o calcanhar nas sombras com a maior força que pôde. Desequilibrado, o chute não foi tão eficaz quanto ele esperava, mas definitivamente tinha atingido alguma coisa sob o encerado. Ele se preparou para golpear novamente.
— Me deixa em paz! — reclamou uma voz fraca, e o encerado voou e revelou uma forma agachada no canto. Will de imediato ergueu o globo luminoso.
— Ei! — gritou a voz, tentando proteger o rosto da luz.
Ele pestanejou para Will, as manchas de lágrimas delineadas na camada de sujeira e carvão das bochechas. Houve uma pausa e um arfar de reconhecimento, e seu rosto se abriu no sorriso mais largo que se pode imaginar. Era um rosto cansado e tinha perdido grande parte de sua gordura, mas era inconfundível.
— Oi, Chester — disse Will, pulando para o lado do amigo.
— Will? — gritou Chester, sem acreditar no que estava vendo. Depois, a plenos pulmões, ele gritou de novo: — Will!
— Não achava que eu ia te deixar na mão, não é? — gritou Will. Will agora entendeu o que Imago tinha em mente. Ele sabia que Chester ia para o Desterro, mandado às Profundezas neste mesmo trem. O velhaco astuto sabia disso o tempo todo.
Era impossível falar com todo o barulho do motor veloz acima deles, mas Will ficou contente só por se reunir a Chester. O garoto abriu o maior dos sorrisos, deleitando-se numa onda de alívio pelo fato de o amigo estar seguro. Ele se encostou no último painel do vagão e fechou os olhos, cheio da sensação mais intensa de exaltação porque, enfim, depois da agonia de pesadelo em que se encontrara, acontecera uma coisa boa, algo tinha saído bem. Chester estava seguro! Isso significava o mundo para ele.
E, acima dê tudo, ele estava sendo conduzido para o pai, para a maior aventura de sua vida, em uma jornada a terras desconhecidas. Em sua mente, o dr. Burrows era a única parte da vida passada a que podia se agarrar. Will estava decidido a encontrá-lo, onde quer que estivesse. E depois tudo ficaria bem de novo. Todos ficariam bem: ele, Chester e Cal, todos juntos, com seu pai. A idéia brilhou em sua mente como o mais cintilante dos faróis.
De repente, o futuro não parecia tão assustador.
Will abriu os olhos e se inclinou para a orelha de Chester.
— Então amanhã não tem escola — gritou ele.
Os dois deram uma gargalhada desamparada, tragada pelo trem que continuava a ganhar velocidade, vomitando fumaça escura para trás, carregando-os da Colônia, para longe de Highfield e para longe de tudo o que eles conheciam, acelerando para o coração da Terra.
Epílogo
O suave calor do sol caía em um belo dia do início do Ano novo, tão balsâmico que podia ser primavera. Sem a obstrução de prédios altos, a perfeita tela azul do céu era marcada somente pelas partículas de gaivotas que caíam e subiam nas correntes termais de ar ao longe. Se não fosse pela invasão ocasional do trânsito que passava na rua à margem do canal, podia-se ter imaginado que era algum lugar no litoral, talvez uma aldeia de pescadores sonolenta.
Mas esta era Londres e as mesas de madeira do lado de fora do bar começavam a se encher enquanto o chamariz do clima bom tornava-se tentador demais. Três homens de terno escuro e rostos anêmicos de trabalhadores de escritório saíram pelas portas e sentaram-se com suas bebidas. Inclinando-se por sobre a mesa, cada um tentava superar o outro ao falar alto demais e rir com estridência, como gralhas numa rixa. Ao lado deles, estava um grupo diferente, estudantes de jeans e camisetas desbotadas que mal faziam um ruído que fosse. Estavam quase sussurrando entre eles ao tomar as cervejas e enrolar o ocasional cigarro.
Sozinho no banco de madeira na sombra do prédio, Reggie tomou a cerveja, a quarta da hora do almoço. Sentia-se meio tonto, mas não tinha nada planejado para a tarde e decidira se regalar. Pegou um punhado de arenque frito na tigela ao lado e mastigou os pequenos pedaços de peixe pensativamente.
— Oi, Reggie — disse uma das garçonetes, os braços cheios de copos empilhados precariamente enquanto recolhia os vazios.
— Oi, e aí? — respondeu ele hesitante, já que nunca era muito bom para se lembrar do nome dos empregados do bar.
Ela sorriu para ele com simpatia, depois abriu a porta com o quadril para entrar. Reggie vinha de vez em quando há anos, mas recentemente tornara-se um freqüentador assíduo, aparecendo quase todo dia para seu prato preferido, uma tigela de arenque ou bacalhau e fritas.
Ele era um homem tranqüilo e reservado. Além do fato de ser muito generoso nas gorjetas, o que o destacava dos fregueses comuns era sua aparência. Tinha o cabelo incrivelmente branco. Às vezes o usava como um motoqueiro velho, trançado numa serpente alvejada que descia pelas costas, mas em outras ocasiões ele ficava solto, fofo como o pêlo de um poodle depois do banho. Nunca estava sem seus óculos de sol muito escuros, qualquer que fosse o clima, e suas roupas eram estranhas e antiquadas, como se as tivesse pego emprestadas de um figurinista de teatro. Dada sua aparência excêntrica, os empregados do bar chegaram à conclusão de que ele devia ser um músico desempregado, um ator “aposentado” ou até um artista não descoberto, já que havia tantos naquela região.
Ele se encostou na parede, suspirando satisfeito quando apareceu uma jovem magra de cara simpática e um cachecol de algo dão florido na cabeça. Portando um cesto de vime, ela ia de mesa em mesa, tentando vender pequenos galhos de urze com o caule embrulhado em papel de alumínio. Era uma cena que podia ter saído de filmes vitorianos. Ele sorriu, pensando em como era estranho que estes ciganos de rua ainda vendessem suas mercadorias inocentes, quando em volta as grandes empresas promoviam implacavelmente suas marcas nos outdoors.
— Imago.
O nome vagou para ele enquanto uma brisa soprava e um carro batido acelerava o motor sem parar na esquina, as rodas guinchando. Ele estremeceu e olhou desconfiado para um velho que lutava pela calçada com sua bengala. As bochechas do homem eram cobertas de um restolho cinza e espigado, como se ele tivesse se esquecido de fazer a barba pela manhã.
Enquanto a menina que vendia a urze passava roçando por ele com seu cesto, Imago desviou os olhos do homem e voltou a examinar as pessoas na mesa. Não, ele só estava meio assustadiço. Não era nada. Deve ter sido imaginação.
Ele pôs a tigela de arenque no colo e se serviu de outro punhado, engolindo com um pouco de cerveja. Isto é que era a vida! Ele sorriu consigo mesmo e esticou as pernas.
Ninguém viu quando ele se lançou na parede com um espasmo súbito e depois foi atirado para fora do banco, a cara numa contorção grotesca. Ao cair no chão, seus olhos giraram nas órbitas e a boca se abriu, só por um instante, depois se fechou pela última vez.
Passou-se um longo tempo até que a ambulância chegasse. Como ele podia rolar da maca, os dois homens da ambulância decidiram carregar o cadáver rígido, um em cada ponta. A multidão de espectadores arfou com o espetáculo, murmurando enquanto o corpo de Imago, paralisado como uma estátua sentada, era levado à traseira da ambulância. E não havia absolutamente nada que os homens da ambulância pudessem fazer quanto à tigela ainda agarrada na mão do cadáver, tão apertada que não conseguiram soltá-la.
Coitado do Reggie. Bastante insensíveis quando se tratava do bem-estar da clientela, os empregados do bar ficaram genuinamente perturbados com sua morte. Em particular porque a cozinha ficou fechada e vários perderam o emprego. Mais tarde eles souberam que havia um composto obscuro de chumbo em sua comida; era uma ocorrência anormal, um peixe envenenado em um milhão. Seu corpo simplesmente se apagou, o sangue coagulando como cimento de secagem rápida devido ao choque tóxico arrasador.
Na investigação, o legista não foi tão longe quanto à natureza do veneno. Na verdade ficou bastante desnorteado com os vestígios de substâncias complexas, das quais não tinham registro nenhum.
Só uma pessoa, a garota que observava a ambulância do outro lado da rua, sabia a verdade. Ela tirou o cachecol e o jogou na sarjeta, sacudindo o cabelo preto com um sorriso de satisfação enquanto colocava os óculos escuros e inclinava a cabeça, cantando suavemente: “Sunshine... You are my sunshine...”
Ela ainda não tinha terminado...
Roderick Gordon & Brian Williams
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















