UM BRASILEIRO EM BERLIM / João Ubaldo Ribeiro
UM BRASILEIRO EM BERLIM / João Ubaldo Ribeiro
.
.
.
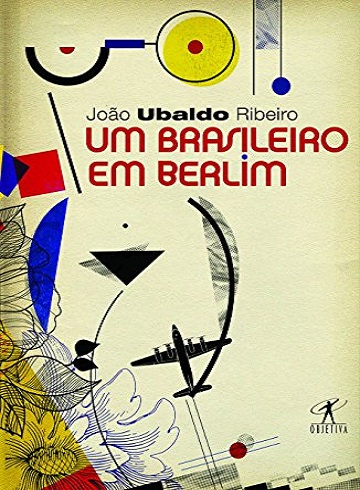
.
.
.
No curso de umas duas horas, entramos numa fila de passageiros para Bangladesh, saímos no último instante para uma fila de turistas italianos interessados em visitar as vitrines de mulheres de Hamburgo, assinamos uma petição a favor da independência da Lituânia achando que estávamos nos inscrevendo na lista de passageiros para Berlim, quase nos incorporamos a um grupo japonês que ia conhecer a Bolsa de Frankfurt e, finalmente, escorregamos sem querer de uma esteira rolante que nos conduziria a Bad Homburg sem escalas e, ao levantarmos os olhos, nos achamos — milagre! — diante de A-23. Minha filha Chica, de seis anos, exausta mas aliviada como todos nós, fez um comentário. — A Alemanha é maior do que o Brasil, hem, pai? — Não. O Brasil é muito maior. — Pode ser, mas o aeroporto aqui de Fanfu é maior do que o Brasil, não é, não? — Ah, isso é, cabem uns cinco Brasis aqui dentro — concordei, despencando numa cadeira, olhando em torno e me dando conta pela primeira vez de que estava mesmo na Alemanha e, se tudo corresse como previsto, ainda estaria por muito tempo.
Por que a Alemanha? Sim, há várias explicações, digamos, superficiais ou parciais: fui convidado pelo DAAD,[1] vivo de escrever e, portanto, posso trabalhar em qualquer lugar, tenho amigos aqui etc. etc. Mas isto não satisfaz, porque sei, embora não possa explicar, que existe algo mais entre este país e eu, algo misterioso. Fico imaginando se não teria sido alemão numa vida pregressa. Se Shirley McLaine teve tantas vidas pregressas, por que não posso haver tido pelo menos uma? Olho para o senhor sisudo a meu lado, com uma peninha faceira adornando seu chapéu, em amável contraste com sua expressão austera. Sim, talvez eu tenha sido alguma vez um bávaro, um gordinho chamado Johannes, famoso em toda Munique pela capacidade de consumir cerveja em quantidades industriais — um bávaro como outro qualquer, pensando bem. Quase viro para esse meu conterrâneo e lhe dirijo um sorridente “Grüss Gott!”. Mas me contenho. Posso ter sido bávaro em outra vida, mas, infelizmente, para a presente encarnação brasileira, não trouxe comigo meus conhecimentos da língua alemã, que hoje falo com menor desenvoltura do que falaria um homem de Neandertal. O devaneio, contudo, não passa. Esta minha ligação com a Alemanha, eu sempre voltando aqui, meus livros lidos aqui, tantos amigos aqui, sentindo-me tão bem aqui... Claro, meu sobrenome pode ser traduzido como Bach. Claro, claro, minha outra encarnação foi na qualidade de parente do Johann Sebastian, limpando o cravo que meu primo tão bem temperava e fazendo outros servicinhos em Brandemburgo, inclusive os que meu talento musical permitia, tais como acionar os foles do órgão da igreja. É, pode ser, pode ser. O embarque é anunciado, entro no avião distraído, ainda preocupado com minha elusiva identidade alemã. E me encontrava no século XVIII, num baile em Magdenburg, em vistoso uniforme militar e de olho na bela filha do Bürgermeister, quando Chica me interrompeu as reminiscências com uma cotovelada. — Pai, pai, Berlim! Berlim! Sim, Berlim! Levantei-me, arrepanhei sacolas e maletas, encaminhei-me de peito erguido para a saída. Berlim, vida nova, a História desenrolando alguns de seus mais empolgantes capítulos à minha frente, glórias e emoções logo ali, a esperar-me de braços abertos. Hélas! — como exclamou Napoleão, no dia em que, em certo prado de Waterloo, tive oportunidade de vê-lo, na minha então condição de alferes de um regimento prussiano. As coisas nem sempre são previsíveis, seja para os Bonaparte, seja para os Bach. E eis que, hoje aqui, pleno residente de Berlim, não disponho de glórias para contar-vos, mas de histórias quiçá melancólicas, tais como a do Tartamudo do Kurfürstendamm, a do Fantasma do Storkwinkel e a do Moscão da Schwarzbacher Straβe. Histórias que contaria agora, se me permitisse o espaço, mas que contarei depois, se vos permitir a paciência. Ich bin ein Berliner, como já se disse antes.
O Tartamudo do Kurfürstendamm
Acredito já ser bem conhecido por estes arredores do Kurfürstendamm (aliás, Ku’damm, que é como nós, berlinenses, tratamos de nossa avenida mais famosa), perto de onde eu moro. Gostaria de dizer que essa notoriedade se deve à camaradagem que estabeleci com vizinhos, funcionários de lojas e supermercados, carteiros, policiais, lixeiros, atendentes de quiosques e outros que por aqui militam. Não me desagradaria tampouco explicar que sou assim tão conhecido devido a meus dotes físicos, que impressionariam moças e senhoras de todas as condições sociais. Também ficaria satisfeito, se pudesse atribuir os olhares de reconhecimento ao orgulho que teriam todos, ao saber que tão renomado escritor reside nas vizinhanças. Enfim, posso pensar talvez numa dezena de razões que me contentariam. Mas, ai de mim, não é nada disso. Sim, porque — já é tempo de que vocês saibam a verdade — eu sou o Tartamudo do Ku’damm. Sim, sou eu mesmo, talvez vocês já tenham ouvido falar em mim. Sou aquele que acaba de parar na esquina da Westfälische Straβe com um ar aflito maldisfarçado por um sorriso amarelo, olha para um lado, olha para o outro, faz que vai mas não vai, saca um dicionariozinho do bolso que estuda tremulamente e, afinal, num acesso súbito de fraqueza, põe a mão na testa e senta-se num banquinho da Henriettenplatz. É o Tartamudo reunindo coragem para enfrentar outra de suas aventuras arrepiantes. Ousará, mais uma vez, entrar na papelaria e tentar perguntar se eles têm etiquetas “mit Luftpost”? Não pode esquecer-se do primeiro dia em que tentou e, depois de tantos ensaios, apenas lograva, entre gaguejadas sísmicas, dizer “flugpostiketten”, ao que a não tão gentil senhora do balcão lhe dirigiu palavras que, apesar de para ele serem ininteligíveis, pareciam uma clara alusão à sua dele senhora mãe, que, coitada, não é responsável por ele ainda não ter, em que pesem seus esforços, conquistado a bela, porém notoriamente esquiva, língua alemã. Sim, não se esquece disso, nem de outros episódios igualmente acabrunhantes. O dia em que, com grande coragem, pediu uma Bratwurst num quiosque da acima mencionada Henriettenplatz e, ao responder “ja” a uma pergunta que não entendeu direito, ouviu presumíveis menções à sua parca inteligência, seguidas de risadinhas e risadonas dos outros clientes do estabelecimento. O dia em que, também depois de ensaios estrênuos, reuniu forças para entrar num ônibus sozinho e recitar o nome do bilhete que havia laboriosamente decorado, somente para cometer o fatal engano de, em vez de depositar as moedas na bandejinha apropriada, tentar entregá-las diretamente ao motorista — e de novo menções óbvias à sua debilidade mental, e de novo risadinhas dos circunstantes. O dia em que, não conhecendo (e não a tendo achado no dicionariozinho) a palavra para designar “sacola”, limitou-se a apontá-la para a caixa do supermercado, a qual ficou imensamente transtornada e começou a discursar, em volume audível de Hallensee a Wannsee: — Das ist kein dah-dah-dah-dah! Das ist kein buh-buh-buh-buh! Das is eine Tüte! Das ist eine Tüte! Das ist ein Tüüüüte, ja? Ja? Eine Tüüüüte! É, mas o Tartamudo pelo menos se consola em saber que essa experiência fez com que ele jamais esqueça a importante palavra “Tüte”, agora indelevelmente gravada em sua memória. O suor frio já não lhe escorre tão profusamente da testa, em seu obscuro banquinho da Henriettenplatz. Sim, tudo isso é muito natural, não será isso que o desencorajará, um dia ele finalmente aprenderá a diferença entre welches, welche e welchem, um dia saberá pôr um verbo aqui e outro a duas milhas de distância, para isso vem estudando com afinco. Sim, irá à papelaria, pedirá as etiquetas, depois irá à loja de panelas, como lhe pediu sua mulher, para comprar a frigideira nova de que a casa precisa. Em frente! — decide-se, com ânimo renovado, e se levanta altaneiro do banco da Henriettenplatz. Mas, mas... Mas que é isto que lhe renova a palidez da fronte e lhe traz de volta suores frios e o faz outra vez cambalear, apalpando nervosamente o dicionário? Sim, panela lembra fogão e fogão lembra o homem do fogão. O homem do fogão, que veio consertar, faz alguns dias, o forno quebrado. Que medo lhe traz a lembrança do homem do fogão, que se recusou a falar devagar e, quanto mais lhe pediam desculpas por não saberem alemão direito, mais berrava “kaputt, kaputt!” e saiu sem consertar forno nenhum, parecendo que ia sacar uma metralhadora da maleta de ferramentas, caso insistissem. Não, não, o homem do fogão podia ter algum parente na loja de panelas. O Tartamudo não ousou arriscar-se outra vez. Melhor voltar para casa, estudar mais um pouco, quem sabe amanhã decoraria bem “mit Luftpost” e “eine Pfanne, bitte”? Voltou para casa, pegou o livrinho de alemão para estudar e foi interrompido pelo telefonema de um amigo, a quem se queixou de que Berlim não era mais a mesma, parecia que agora tinha raiva de estrangeiros. — Que nada — disse ele, que é berlinense de nascença. — É raiva de alemão mesmo. Alemão do outro lado. — Como, raiva de alemão? E eu por acaso pareço alemão? — Não, mas pode parecer polonês, romeno, húngaro, iugoslavo... Aqui virou tudo a mesma coisa. Você vai ter que se acostumar com isso, são novos tempos. O Tartamudo do Ku’damm desligou o telefone com um sorriso maquiavélico nos lábios. Ah, então era assim, não era? Muito bem, se o consideravam um inimigo, seria um inimigo. — Mulher — disse ele, entrando na sala onde ela assistia (sem entender nada, mas com dedicação) a um programa da ZDF. — Resolvi assumir. Não é isso o que eles querem? Amanhã mesmo, compro um Trabant e vou à luta.
[1] Deutscher Akademische Austauschdienst — Entidade alemã que convida artistas para passar temporadas em Berlim. (N. do A.)




Biblio VT




Quem não estiver apto a disputar o pentatlo nos Jogos Olímpicos não deve viajar do Rio de Janeiro a Berlim no que as companhias aéreas chamam de “classe econômica”, embora saibam que se trata de um eufemismo para “vagão de búfalos” (exceção feita à comida, já que a dos búfalos é certamente melhor). Foi o que pensei, ao levantar-me, um pouco antes da hora do pouso, para batalhar com os outros búfalos por um lugar na fila do banheiro. Qualquer um que tenha participado de um evento desse tipo o trará sempre na memória — aquela coleção tocante de velhotas ansiosas, jovens senhores de tornozelos entrelaçados e olhos cravados no teto, damas de bolsa na mão fingindo que vão ali apenas para retocar a maquilagem, um cavalheiro de ar severo que mira seus antecessores na fila com evidente rancor, a indignação geral contra a gordinha que acaba de entrar e fechar a porta levando consigo um exemplar de A montanha mágica, um menino de nariz escorrendo explicando à mãe que não se responsabiliza pelo que pode acontecer, se não lhe conseguirem uma vaga imediatamente. Pentatlo não, decatlo, penso outra vez, ao descermos em Frankfurt, submergindo em sacolas e maletas, e descobrirmos que nossa conexão para Berlim deve ser feita em A-23, logo à direita de A-42, atrás de B-28, passando pelo controle de passaportes ou, se preferirmos algo mais simples, só três quilômetros mais distante, à esquerda de A-17, ignorando o corredor B e indo direto ao objetivo, não sem antes nos submetermos à inspeção de bagagem em A-15E. Tentamos ambas as hipóteses.
.
.
.
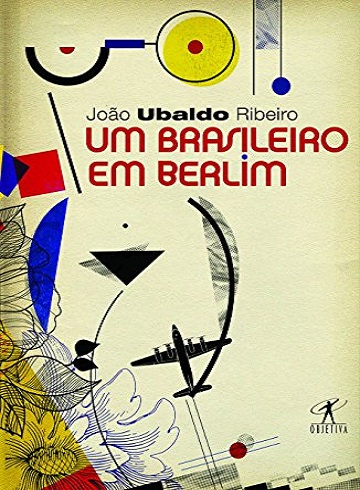
.
.
.
No curso de umas duas horas, entramos numa fila de passageiros para Bangladesh, saímos no último instante para uma fila de turistas italianos interessados em visitar as vitrines de mulheres de Hamburgo, assinamos uma petição a favor da independência da Lituânia achando que estávamos nos inscrevendo na lista de passageiros para Berlim, quase nos incorporamos a um grupo japonês que ia conhecer a Bolsa de Frankfurt e, finalmente, escorregamos sem querer de uma esteira rolante que nos conduziria a Bad Homburg sem escalas e, ao levantarmos os olhos, nos achamos — milagre! — diante de A-23. Minha filha Chica, de seis anos, exausta mas aliviada como todos nós, fez um comentário. — A Alemanha é maior do que o Brasil, hem, pai? — Não. O Brasil é muito maior. — Pode ser, mas o aeroporto aqui de Fanfu é maior do que o Brasil, não é, não? — Ah, isso é, cabem uns cinco Brasis aqui dentro — concordei, despencando numa cadeira, olhando em torno e me dando conta pela primeira vez de que estava mesmo na Alemanha e, se tudo corresse como previsto, ainda estaria por muito tempo.
Por que a Alemanha? Sim, há várias explicações, digamos, superficiais ou parciais: fui convidado pelo DAAD,[1] vivo de escrever e, portanto, posso trabalhar em qualquer lugar, tenho amigos aqui etc. etc. Mas isto não satisfaz, porque sei, embora não possa explicar, que existe algo mais entre este país e eu, algo misterioso. Fico imaginando se não teria sido alemão numa vida pregressa. Se Shirley McLaine teve tantas vidas pregressas, por que não posso haver tido pelo menos uma? Olho para o senhor sisudo a meu lado, com uma peninha faceira adornando seu chapéu, em amável contraste com sua expressão austera. Sim, talvez eu tenha sido alguma vez um bávaro, um gordinho chamado Johannes, famoso em toda Munique pela capacidade de consumir cerveja em quantidades industriais — um bávaro como outro qualquer, pensando bem. Quase viro para esse meu conterrâneo e lhe dirijo um sorridente “Grüss Gott!”. Mas me contenho. Posso ter sido bávaro em outra vida, mas, infelizmente, para a presente encarnação brasileira, não trouxe comigo meus conhecimentos da língua alemã, que hoje falo com menor desenvoltura do que falaria um homem de Neandertal. O devaneio, contudo, não passa. Esta minha ligação com a Alemanha, eu sempre voltando aqui, meus livros lidos aqui, tantos amigos aqui, sentindo-me tão bem aqui... Claro, meu sobrenome pode ser traduzido como Bach. Claro, claro, minha outra encarnação foi na qualidade de parente do Johann Sebastian, limpando o cravo que meu primo tão bem temperava e fazendo outros servicinhos em Brandemburgo, inclusive os que meu talento musical permitia, tais como acionar os foles do órgão da igreja. É, pode ser, pode ser. O embarque é anunciado, entro no avião distraído, ainda preocupado com minha elusiva identidade alemã. E me encontrava no século XVIII, num baile em Magdenburg, em vistoso uniforme militar e de olho na bela filha do Bürgermeister, quando Chica me interrompeu as reminiscências com uma cotovelada. — Pai, pai, Berlim! Berlim! Sim, Berlim! Levantei-me, arrepanhei sacolas e maletas, encaminhei-me de peito erguido para a saída. Berlim, vida nova, a História desenrolando alguns de seus mais empolgantes capítulos à minha frente, glórias e emoções logo ali, a esperar-me de braços abertos. Hélas! — como exclamou Napoleão, no dia em que, em certo prado de Waterloo, tive oportunidade de vê-lo, na minha então condição de alferes de um regimento prussiano. As coisas nem sempre são previsíveis, seja para os Bonaparte, seja para os Bach. E eis que, hoje aqui, pleno residente de Berlim, não disponho de glórias para contar-vos, mas de histórias quiçá melancólicas, tais como a do Tartamudo do Kurfürstendamm, a do Fantasma do Storkwinkel e a do Moscão da Schwarzbacher Straβe. Histórias que contaria agora, se me permitisse o espaço, mas que contarei depois, se vos permitir a paciência. Ich bin ein Berliner, como já se disse antes.
O Tartamudo do Kurfürstendamm
Acredito já ser bem conhecido por estes arredores do Kurfürstendamm (aliás, Ku’damm, que é como nós, berlinenses, tratamos de nossa avenida mais famosa), perto de onde eu moro. Gostaria de dizer que essa notoriedade se deve à camaradagem que estabeleci com vizinhos, funcionários de lojas e supermercados, carteiros, policiais, lixeiros, atendentes de quiosques e outros que por aqui militam. Não me desagradaria tampouco explicar que sou assim tão conhecido devido a meus dotes físicos, que impressionariam moças e senhoras de todas as condições sociais. Também ficaria satisfeito, se pudesse atribuir os olhares de reconhecimento ao orgulho que teriam todos, ao saber que tão renomado escritor reside nas vizinhanças. Enfim, posso pensar talvez numa dezena de razões que me contentariam. Mas, ai de mim, não é nada disso. Sim, porque — já é tempo de que vocês saibam a verdade — eu sou o Tartamudo do Ku’damm. Sim, sou eu mesmo, talvez vocês já tenham ouvido falar em mim. Sou aquele que acaba de parar na esquina da Westfälische Straβe com um ar aflito maldisfarçado por um sorriso amarelo, olha para um lado, olha para o outro, faz que vai mas não vai, saca um dicionariozinho do bolso que estuda tremulamente e, afinal, num acesso súbito de fraqueza, põe a mão na testa e senta-se num banquinho da Henriettenplatz. É o Tartamudo reunindo coragem para enfrentar outra de suas aventuras arrepiantes. Ousará, mais uma vez, entrar na papelaria e tentar perguntar se eles têm etiquetas “mit Luftpost”? Não pode esquecer-se do primeiro dia em que tentou e, depois de tantos ensaios, apenas lograva, entre gaguejadas sísmicas, dizer “flugpostiketten”, ao que a não tão gentil senhora do balcão lhe dirigiu palavras que, apesar de para ele serem ininteligíveis, pareciam uma clara alusão à sua dele senhora mãe, que, coitada, não é responsável por ele ainda não ter, em que pesem seus esforços, conquistado a bela, porém notoriamente esquiva, língua alemã. Sim, não se esquece disso, nem de outros episódios igualmente acabrunhantes. O dia em que, com grande coragem, pediu uma Bratwurst num quiosque da acima mencionada Henriettenplatz e, ao responder “ja” a uma pergunta que não entendeu direito, ouviu presumíveis menções à sua parca inteligência, seguidas de risadinhas e risadonas dos outros clientes do estabelecimento. O dia em que, também depois de ensaios estrênuos, reuniu forças para entrar num ônibus sozinho e recitar o nome do bilhete que havia laboriosamente decorado, somente para cometer o fatal engano de, em vez de depositar as moedas na bandejinha apropriada, tentar entregá-las diretamente ao motorista — e de novo menções óbvias à sua debilidade mental, e de novo risadinhas dos circunstantes. O dia em que, não conhecendo (e não a tendo achado no dicionariozinho) a palavra para designar “sacola”, limitou-se a apontá-la para a caixa do supermercado, a qual ficou imensamente transtornada e começou a discursar, em volume audível de Hallensee a Wannsee: — Das ist kein dah-dah-dah-dah! Das ist kein buh-buh-buh-buh! Das is eine Tüte! Das ist eine Tüte! Das ist ein Tüüüüte, ja? Ja? Eine Tüüüüte! É, mas o Tartamudo pelo menos se consola em saber que essa experiência fez com que ele jamais esqueça a importante palavra “Tüte”, agora indelevelmente gravada em sua memória. O suor frio já não lhe escorre tão profusamente da testa, em seu obscuro banquinho da Henriettenplatz. Sim, tudo isso é muito natural, não será isso que o desencorajará, um dia ele finalmente aprenderá a diferença entre welches, welche e welchem, um dia saberá pôr um verbo aqui e outro a duas milhas de distância, para isso vem estudando com afinco. Sim, irá à papelaria, pedirá as etiquetas, depois irá à loja de panelas, como lhe pediu sua mulher, para comprar a frigideira nova de que a casa precisa. Em frente! — decide-se, com ânimo renovado, e se levanta altaneiro do banco da Henriettenplatz. Mas, mas... Mas que é isto que lhe renova a palidez da fronte e lhe traz de volta suores frios e o faz outra vez cambalear, apalpando nervosamente o dicionário? Sim, panela lembra fogão e fogão lembra o homem do fogão. O homem do fogão, que veio consertar, faz alguns dias, o forno quebrado. Que medo lhe traz a lembrança do homem do fogão, que se recusou a falar devagar e, quanto mais lhe pediam desculpas por não saberem alemão direito, mais berrava “kaputt, kaputt!” e saiu sem consertar forno nenhum, parecendo que ia sacar uma metralhadora da maleta de ferramentas, caso insistissem. Não, não, o homem do fogão podia ter algum parente na loja de panelas. O Tartamudo não ousou arriscar-se outra vez. Melhor voltar para casa, estudar mais um pouco, quem sabe amanhã decoraria bem “mit Luftpost” e “eine Pfanne, bitte”? Voltou para casa, pegou o livrinho de alemão para estudar e foi interrompido pelo telefonema de um amigo, a quem se queixou de que Berlim não era mais a mesma, parecia que agora tinha raiva de estrangeiros. — Que nada — disse ele, que é berlinense de nascença. — É raiva de alemão mesmo. Alemão do outro lado. — Como, raiva de alemão? E eu por acaso pareço alemão? — Não, mas pode parecer polonês, romeno, húngaro, iugoslavo... Aqui virou tudo a mesma coisa. Você vai ter que se acostumar com isso, são novos tempos. O Tartamudo do Ku’damm desligou o telefone com um sorriso maquiavélico nos lábios. Ah, então era assim, não era? Muito bem, se o consideravam um inimigo, seria um inimigo. — Mulher — disse ele, entrando na sala onde ela assistia (sem entender nada, mas com dedicação) a um programa da ZDF. — Resolvi assumir. Não é isso o que eles querem? Amanhã mesmo, compro um Trabant e vou à luta.
Sexy Brasil, Sexy Berlin
Bem sei eu da imagem do Brasil. Falar em Brasil é evocar índios, a Amazônia e ditadores militares cobertos de medalhas do tamanho de panquecas, gritando ordens a pelotões de fuzilamento em espanhol de acentos bárbaros, nos intervalos de telefonemas nervosos para bancos suíços. O fato de um brasileiro, como eu, confessar que nunca esteve no Amazonas (viagenzinha de umas seis horas a jato, ou mais, a partir do Rio de Janeiro), que só viu dois índios em toda a vida (um dos quais deputado federal, de terno e gravata) e que fala espanhol mal, eis que sua língua nativa é o português, deixa as pessoas dos outros países muito desapontadas, achando que estão lidando com um impostor, ou com um mentiroso cínico. Também conheço a outra imagem do Brasil, a que está na cabeça dos que sonham ir um dia conquistar os trópicos, esbaldar-se sob um sol interminável, tomar drinques iguais aos arranjos de cabeça de Carmem Miranda (que, por sinal, não era brasileira de nascença), amanhecer dançando lambada já no quarto do hotel e adormecer entre mulatas estonteantes, cujos padrões de conduta fariam Messalina parecer uma irmã de caridade. Esses não perdem documentários sobre o Carnaval e as praias, salivam diante de cartazes turísticos mostrando mulheres em biquínis microscópicos e acham que, quando passarem para baixo do Equador, tudo mais virá abaixo também, inclusive calças, sutiãs, saias e o que mais constituir obstáculo para se assumir o estilo de vida do Brasil, país de costumes libertinos, ao qual não se devem levar vovós alemãs e outras senhoras respeitáveis. A primeira imagem é mais fácil para a gente. Uma vez, durante um jantar no Arizona, quando eu era estudante nos Estados Unidos, experimentei grunhir um pouco, enquanto comia com a cara quase encostada no prato — e fiz grande sucesso. É claro que então eu só tinha vinte anos e, nessa idade, fazem-se coisas que depois dos quarenta não se fazem, mas ainda é possível satisfazer as expectativas dos amigos do Primeiro Mundo. Basta um certo ar primitivo, uma risada levemente inquietante e ar de pasmo diante de novidades tecnológicas, tais como fogões elétricos, geladeiras, ou mesmo isqueiros — quase tudo que não seja de madeira ou couro serve. Villa-Lobos, o grande compositor brasileiro (ou colombiano, ou venezuelano, ou boliviano, é tudo a mesma coisa), se divertia na Europa contando como se comia gente no Brasil e eu mesmo, que já andei escrevendo umas cenas de canibalismo, creio haver, certa feita em Nuremberg, percebido nervosismo numa companheira de mesa, cada vez em que eu olhava para o braço dela e pegava o ketchup (mas resisti e não dei uma dentadinha nela). Já a segunda imagem é bem mais difícil de enfrentar. Não dar festinhas com todo mundo
nu, notadamente aqui em plagas nórdicas, é visto com compreensão, por causa do frio. Mas o resto não. Lembro uma amiga nossa que nos visitou em outra ocasião, também aqui na Europa. Quando ia pela primeira vez a um restaurante com um admirador europeu, tinha que ficar repetindo “pelo menos vamos acabar de jantar, acabe o jantar, não, aqui não!”, pois eles achavam que a masculinidade de seus respectivos países seria posta em dúvida, caso não iniciassem os trabalhos logo depois da chegada do primeiro martíni, afinal estava ali uma brasileira típica. Com dois filhos pequenos e uma certa reputação a manter, temos sido tropicais cautelosos, aqui em Berlim. Mas está ficando difícil, notadamente diante do famoso Sexy Berlin e dos graves acontecimentos na Hochmeisterplatz. Não sei bem o que é Sexy Berlin, mas outro dia pegamos nosso filho Bento assistindo a Sexy Berlin na tevê com um interesse que, para seus oito anos, talvez seja um pouco prematuro, já que Sexy Berlin se resume à apresentação de — como direi? — senhoras em situações íntimas. Bento quis saber se é assim que as senhoras aparecem à noite, aqui em Berlim, asseguramos-lhe que não, nada disso, era um episódio isolado, nada disso. Mas ele continua a ser um espectador assíduo, toda vez que não estamos vigilantes. Reagindo contra a impressão errônea que isto pode dar a ele, sobre o país amigo que ora nos hospeda, atacamos de ecologia. Não, não, ele vai passar o tempo livre num parque aqui perto, com outros meninos. E assim descobrimos a boa Hochmeisterplatz, onde nossa esperança era cansá-lo o suficiente para que ele não tivesse forças para sair da cama tarde da noite e ir ver Sexy Berlin. Ai de nós, não deu certo, porque, no primeiro dia quente que fez aqui, ele, que gosta mais de comer do que de qualquer outra coisa (ou gostava, já não sei bem), veio almoçar a pulso, perguntando a que horas ia voltar para a praça. Estranhei o interesse e ele acabou me confessando, com os olhos ainda mais arregalados do que durante o Sexy Berlin: “Pai, estava todo mundo nu, lá na Hochmeisterplatz! E também tinha duas moças se beijando na boca!” Bem, explicações, explicações, aqui ficar nu na rua não é como no Brasil, aqui é normal, lá é que é indecente, o pessoal aqui só quer tomar um solzinho e trocar uns beijinhos amistosos na frente dos outros. Mas receio que não adiantou muito, embora, de tudo isso, possamos retirar o velho truísmo de que a vida é cheia de ironias. Pois Bento, conversando comigo ontem, de homem para homem, me confessou que quer virar alemão. Aqui é muito melhor, aqui o negócio é quente, não tem uma porção de melindres e fricotes, como no Brasil. — Só uma coisa — concluiu ele, pensativo. — Não vou mais convidar vovó para visitar a gente. Aqui ela não ia poder nem ir ao parque, nem assistir à tevê, que ela não está acostumada com essa safadeza da Alemanha, não é?
A velha cidade guerreira
Fico olhando este pedaço de rio, agora tão diferente do que vi da outra vez em que estive aqui. Não é uma diferença física, exceto talvez por um detalhe ou outro, que eu não lembraria, de qualquer forma. Olho muito para o rio, detido à sua beira e recordando as histórias que me contaram daquela vez. Dentro dessa água escura e gélida, me disseram então, havia lâminas afiadas e outros aparatos diabólicos, destinados a matar quem quisesse passar para o lado de cá, nadando abaixo da superfície. Acolá, o bunker de Hitler, a poeira do muro esboroado, quepes de oficiais do Pacto de Varsóvia empilhados entre pedaços de pedra e argamassa como frutas numa feira, meninos saltando ruidosamente sobre um cordão de isolamento desmoralizado. Em outro ponto, mementos simples de alguns dos que foram assassinados na passagem, grupos de turistas, motoristas de ônibus entediados, árvores circunspectas que talvez tenham estado ali, em sua verde indiferença, antes de qualquer um de nós nascer e certamente continuarão lá, como o rio e os acontecimentos naturais, depois que todos nós morrermos. Volto à beira d’água, sofro um acesso de filosofia barata — a única de que sou capaz. Sim, não se passa duas vezes pelo mesmo rio. Colaboro com o bom Heráclito, autor deste velho pensamento, e acrescento, me sentindo meio com vontade de não estar em lugar algum, que tampouco se vê o mesmo rio duas vezes. Agora, neste sítio, os restos despedaçados de tanta História substituem, entre camelôs e japoneses sorridentes, a atmosfera espessa, quase sólida, que aqui encontrei da outra vez. O que existiu realmente existiu? Algo importa além do presente? Há realmente uma História, somos de fato herdeiros de alguma coisa, ou somos eternos construtores daquilo que a memória finge preservar, mas apenas refaz, conforme suas variadas conveniências, a cada instante que vivemos? De qualquer maneira, mesmo que eu continue aqui, com ar de bobo, Heráclito num canto da cabeça e Parmênides no outro, a História, vamos e venhamos, é ridícula. Espécie atrasada, a nossa, animais primitivos. Malgrado meu, o acesso filosófico se renova. Lembro o velho Werner Jaeger, cujo Paidea li febril, ainda adolescente, e me pergunto se efetivamente aprendemos alguma coisa. Por que tanto se matou e tanto se mata? Que se conseguiu com tudo isto que presentemente me rodeia, tudo tão grávido das tragédias de que foi testemunha e é monumento — ao mesmo tempo tão vazio e leve como o piquenique dos meninos, ali em frente? Um velho comunista amigo meu, também escritor, me deu um telefonema perplexo, quando o muro começava a desaparecer e as novas da Europa Oriental nos atropelavam a cada hora. Durante décadas, ele amargou todo tipo de perseguição, ostracismo, prisão, clandestinidade,
exílio, perdas humanas e materiais. Assim como ele, que pelo menos está vivo e sadio, milhares e milhares de outros brasileiros, milhões e milhões de outros homens e mulheres pelo mundo afora, uns à esquerda, outros à direita. A troco de quê? — me perguntava ele. A troco de quê, tanto sofrimento, tanta desilusão, tantas mortes, torturas e angústias? Que se obteve por via de tanto rancor e ódio, tantos corações amargurados, tantas famílias destruídas, tantos jovens que não tiveram tempo de viver, tanta coisa em que, se formos pensar muito, não poderemos conter a náusea e a angústia? Não soube responder-lhe, claro. E saberia menos ainda, aqui nesta velha cidade guerreira da Prússia, olhando esta água, estas cruzes, esses nomes inscritos em pedra e ferro, esse muro sinistro, esse bunker assombrado, a outra Berlim do lado oposto, que em breve não mais será a outra, como esta não será mais a mesma. Imaginava, antes de chegar aqui, que seria tomado por um sentimento de alegria, euforia mesmo, ao rever este pedaço de Berlim soprado pelos ventos da abertura, da liberdade. Mas o contrário acontece. Penso em minhas andanças pela cidade e, embora continue gostando muito dela, reconheço que não é mais tão afável e amena quanto antigamente. Os visitantes do Leste aglomerando-se, como crianças deslumbradas, nas ruas, lojas, estações e praças, parecem irritar muito os berlinenses deste lado — a vida passou, talvez, a se afigurar desarrumada, quase caótica. As pessoas, em vez de visitadas, se sentem invadidas. O outro não é mais irmão, seja por nacionalidade, seja por comum humanidade. O outro é um intruso, cuja fala, modos e fraquezas são inaceitáveis. A solidariedade, antes retórica, hoje há que ser concreta e, de novo, a distância entre as palavras e os atos se mostra bem maior do que previam o discurso abstrato e a emoção vicária. O que está acontecendo não é o que tanto se queria? Queria-se mesmo? Como tudo parecia fácil antes de o muro cair, como surgem dificuldades agora — será que a Humanidade nunca acerta? Não tenho medo dos alemães, como tantos dizem ter, até mesmo muitos alemães com quem converso. Não tenho medo da velha cidade guerreira. Mas tenho medo de gente em geral e resolvo sair deste lugar aonde vim passear, antecipando sentimentos tão diversos dos que abrigo neste instante. Vou para o ponto de ônibus, passo por um grupo de aspecto tímido, homens, mulheres e crianças carregando sacolas e falando baixo. “Polen”, resmunga uma mulher junto a mim, com um olhar antes muito raro aqui, e acrescenta qualquer coisa que não entendo, mas de que tenho certeza de que não gosto. Resolvo que estou pensando bobagens demais, entro no ônibus, retribuo o sorriso de uma velhinha de chapéu festivo e decido que, no caminho de casa, vou descer na Adenauerplatz, para dar uma espiada nos canteiros de flores, que este ano apresentam aos passantes atentos umas tulipas que só vocês vendo.
Educação financeira
Duas razões me fazem incompetente em matéria de dinheiro. A primeira vem da profissão, pois a opulência não costuma acompanhar as letras. Lembro um outro escritor, respondendo sobre se livro dá dinheiro. “Dá, sim”, disse ele. “Contanto que não se seja o escritor.” E, de fato, tenho na memória viagens com editores e escritores, aqueles na primeira classe, estes na econômica. Volta e meia, um editor aparecia para ver os escritores. Que inveja da nossa criatividade, da glória, da liberdade do artista — ah, se pudesse estar ali conosco, em vez de aguentar os chatos lá da frente, mas, sabe como é, noblesse oblige, que é que se pode fazer? E voltava entristecido para sua poltrona palacial, seu champanhe e seus menus premiados, deixando-nos com nossa glória, nossa cerveja morna, nossos sanduíches ressequidos e nossas aeromoças tão doces de trato quanto um sargento dos Fuzileiros Navais. A segunda razão é a minha condição de brasileiro. No Brasil, não há dinheiro. Há papéis coloridos e moedinhas talvez feitas de restos de panelas velhas. E isso vem de longe. Nasci quando o mil-réis foi substituído pelo cruzeiro. Cada mil-réis valia um cruzeiro. Mais tarde, inspirado pelo nouveau franc, o governo criou o cruzeiro novo, que valia mil vezes mais do que o velho. Anos depois, veio o cruzado, que valia mil vezes mais do que o cruzeiro novo e durou alguns meses. Quando se constatou que, para comprar um maço de cigarros com cruzados, o brasileiro tinha de carregar uma mala de dinheiro, criou-se o cruzado novo. Este tampouco resistiu e, agora, numa operação em que as economias de todos foram confiscadas, voltamos ao cruzeiro. Como, com todas essas reviravoltas, não havia condições de imprimir notas novas em quantidade suficiente, decidiu-se carimbar os valores novos nas notas velhas, e os brasileiros passaram a conviver com papéis coloridos cujos carimbos desmentiam o que vinha impresso. Alguns anormais, entre os quais não me incluo, sabem o valor dessas notas, mas a maioria não entende mais nada e é frequente a ocorrência de discussões surrealistas, em bares, quitandas e onde quer que se comprem pequenas coisas (para as grandes coisas não se usa mais dinheiro, usa-se um sistema de compreensão acessível somente a PhDs em Economia, que consiste basicamente em siglas abstrusas, ou então dólares, nossa verdadeira moeda). O comprador de uma penca de bananas se envolve em cálculos mirabolantes, para saber se os dez mil que lhe cobram são novos ou velhos, quantas vírgulas deve botar para lá ou para cá e o que querem dizer aquelas rodinhas de alumínio, onde está escrito “cruzados”, mas leia-se “cruzeiros”, os quais devem ser convertidos a “centavos”, que não valem nada, mas fazem parte da complexa transação. Quando eu ainda estava no Rio, os jornais noticiaram o caso de uma americana que, trocando dólares num hotel, teve uma crise de riso histérico, ao ver sacolas de matéria-prima de confete e aquelas moedinhas de peso inferior a isopor substituírem seus greenbacks.
Compreendo isso, pois os brasileiros também têm crises em situações semelhantes, só que não de riso. Nossa situação alemã é, por conseguinte, delicada. Não me refiro à ofensa inflingida sobre um amigo meu daqui de Berlim, que não compreendeu nossa hilaridade, quando manifestou preocupação sobre a possibilidade de a inflação aqui ir a mais de três por cento ao ano, quando a nossa era também de três por cento, só que ao dia. (Depois ele compreendeu e, comiserado, me ofereceu um uísque duplo.) Refiro-me à educação financeira da família. Nenhum brasileiro se abaixa para pegar uma moeda caída no chão. Meus filhos, por exemplo, só usam moedas brasileiras para escorar portas, fazer chocalhos, entupir pias e atirá-las uns nos outros. Mas agora estamos na Alemanha e aqui, embora os alemães se queixem (ha-ha-haha!), dinheiro aqui é dinheiro e a família não pode sobreviver, se continuarmos a ter moedas espalhadas pela casa de forma tão promíscua que, outro dia, fomos esvaziar o saco de aspirador e encontramos quantia suficiente para comprar um Trabant de segunda mão. A inevitável campanha educativa que encetamos foi, no começo, bem difícil. Berrar “das ist Geld, das ist Geld!” provou-se inútil, porque, mesmo traduzido, dinheiro no Brasil não quer dizer nada. Chegamos a fazer vários seminários domésticos para incutir respeito por um pfennig, mas não adiantou. Até que, Deus seja louvado, a famosa inventividade brasileira acabou por triunfar. Resolvemos dar um nome a cada moeda. Esta aqui é Frau Wein, a professora de meu filho Bento, na Hallensee Grundschule. Frau Wein é tão boazinha, você vai querer que ela fique rolando por aí? Esta aqui é o Marc, seu amigo na escola, você vai jogar o Marc pela janela? Esta aqui é nossa amiga Ute, você vai querer mesmo enfiar Ute no sabonete? Tem dado certo, se bem que fica difícil lembrar o nome de cada moeda, embora os meninos lembrem. E é difícil também porque, outro dia, quando a caixa aqui do supermercado da esquina quis facilitar o troco, me pedindo uma moeda de cinquenta pfennige, eu sem notar tirei Frau Wein do bolso e Bento protestou: “Frau Wein, não, ela é nossa!” Concordei, guardei Frau Wein escrupulosamente e a pus de volta aqui na pilha de moedas de meu estúdio, junto com a Ute, o Marc, a Michi, a Ray, o Dietz, o Bernt e tantos outros amigos alemães. Receio, contudo, que isto vá causar uma certa retração no consumo, aqui na Alemanha, já que, à medida que vamos dando nomes às moedas, torna-se mais difícil gastá-las, não se pode dispor de uma pessoa estimada de maneira tão leviana. Mas ao mesmo tempo, não estaremos contribuindo para a cultura econômica? São perguntas.
Vida organizada
As traduções são muito mais complexas do que se imagina. Não me refiro a locuções, expressões idiomáticas, palavras de gíria, flexões verbais, declinações e coisas assim. Isto dá para ser resolvido de uma maneira ou de outra, se bem que, muitas vezes, à custa de intenso sofrimento por parte do tradutor. Refiro-me à impossibilidade de encontrar equivalências entre palavras aparentemente sinônimas, unívocas e univalentes. Por exemplo, um alemão que saiba português responderá sem hesitação que a palavra portuguesa “amanhã” quer dizer “morgen”. Mas coitado do alemão que vá para o Brasil acreditando que, quando um brasileiro diz “amanhã”, está realmente querendo dizer “morgen”. Raramente está. “Amanhã” é uma palavra riquíssima e tenho certeza de que, se o Grande Duden fosse brasileiro, pelo menos um volume teria de ser dedicado a ela e outras, que partilham da mesma condição. “Amanhã” significa, entre outras coisas, “nunca”, “talvez”, “vou pensar”, “vou desaparecer”, “procure outro”, “não quero”, “no próximo ano”, “assim que eu precisar”, “um dia destes”, “vamos mudar de assunto” etc. e, em casos excepcionalíssimos, “amanhã” mesmo. Qualquer estrangeiro que tenha vivido no Brasil sabe que são necessários vários anos de treinamento para distinguir qual o sentido pretendido pelo interlocutor brasileiro, quando ele responde, com a habitual cordialidade nonchalante, que fará tal ou qual coisa amanhã. O caso dos alemães é, seguramente, o mais grave. Não disponho de estatísticas confiáveis, mas tenho certeza de que nove em cada dez alemães que procuram ajuda médica no Brasil o fazem por causa de “amanhãs” casuais que os levam, no mínimo, a um colapso nervoso, para grande espanto de seus amigos brasileiros — esses alemães são uns loucos, é o que qualquer um dirá. A culpa é um pouco dos alemães, que, vamos admitir, alimentam um número excessivo de certezas sobre esta vida incerta, número quase tão grande como a quantidade exasperante de preposições que frequentam sua língua (estou estudando “auf” e “au” no momento, e não estou entendendo nada). São o contrário dos brasileiros, a maior parte dos quais não tem a menor ideia do que estará fazendo na próxima meia hora, quanto mais amanhã. Talvez tudo se reduza a uma questão filosófica sobre a imanência do ser, o devenir, o princípio de identidade e outros assuntos dos quais fingimos entender, em coquetéis desagradáveis onde mentimos a respeito de nossas leituras e nossos tempos na Faculdade. No plano prático, contudo, a coisa fica gravíssima. Se o Brasil tivesse fronteiras com a Alemanha, não digo uma guerra, mas algumas escaramuças já teriam eclodido, com toda a certeza — e a Alemanha perderia, notadamente porque o Brasil não compareceria às batalhas nos horários previstos, confundiria terça-feira com sexta-feira, deixaria tudo para amanhã,
falsificaria a assinatura oficial no documento de rendição, receberia a Wehrmacht com batucadas nos momentos mais inadequados e estragaria tudo organizando almoços às seis horas da tarde. Falo por experiência própria. When in Rome do as the Romans do — ditado que deve ter uma versão latina muito mais chique, mas, infelizmente, não disponho aqui de meus livros de citações, para dar a impressão aos leitores de que leio Ovídio e Horácio no original. Mas, em inglês ou em latim, acho esse um pensamento de grande sabedoria e procuro segui-lo à risca, na minha atual condição de berlinense, tanto assim que, não fora minha tez trigueira e meu alemão abestalhado, ninguém me distinguiria, fosse por traje ou maneiras, dos outros berlinenses bebericando uma cervejinha ali na Adenauerplatz. Fica tudo, porém, muito difícil em certas ocasiões, como hoje mesmo. O telefone tocou, atendi, falou um alemão simpático e cerimonioso do outro lado, querendo saber se eu estaria livre para uma palestra no dia 16 de novembro, quarta-feira, às 20h30. Sei que é difícil para um alemão compreender que esse tipo de pergunta é ininteligível para um brasileiro. Como alguém pode marcar alguma coisa com tanta precisão e antecedência, esses alemães são uns loucos. Mas não quis ser indelicado e, como sempre, recorri a minha mulher. — Mulher — disse eu, depois de pedir que o telefonador esperasse um bocadinho. — Eu tenho algum compromisso para o dia 16 de novembro, quarta-feira, às 20h30? — Você está maluco? — disse ela. — Quem é que pode responder a esse tipo de pergunta? — Eu sei, mas tem um alemão aqui querendo uma resposta. — Diga a ele que você responde amanhã. — E quando ele telefonar amanhã? Ele é alemão, ele vai telefonar amanhã, ele não sabe o que quer dizer amanhã. — Ah, esses alemães são uns loucos. Você é escritor, invente uma resposta poética, diga a ele que a vida é um eterno amanhã. Achei uma ideia interessante, mas não a usei, apenas disse que ele telefonasse amanhã. Mas claro que não sei o que dizer amanhã e fui dormir preocupado, tanto assim que ainda incomodei minha mulher com uma cotovelada. Afinal, os alemães são organizados, é uma vergonha a gente não poder planejar as coisas tão bem quanto eles. Que é que eu faço? — Ora — respondeu ela, retribuindo a cotovelada —, pergunte a ele se os alemães planejaram a reunificação para agora. E, se ele for berlinense, pergunte se ele não preferia deixá-la para amanhã. — Touché — disse eu, puxando o cobertor para cobrir a cabeça e resolvendo que amanhã
pensaria no assunto.
O crime do Storkwinkel
Não sei quanto aos alemães, mas todo brasileiro tem medo da polícia. Muita gente que é furtada não procura a polícia. A principal razão é que não adianta, pois a polícia brasileira, de modo geral, não resolve nada. (Ninguém resolve nada no Brasil, pensando bem; antigamente, resolvíamos no futebol, mas nem isso mais.) A outra razão é que todo mundo tem medo da polícia e suspeita que, se for lá dar queixa, ela pode se aborrecer e, quando ela se aborrece, o melhor é estar a uma distância segura. No meu caso, há razões ainda mais fortes. Quando estudante, andei fazendo protestos e a polícia se sentia ofendida, manifestando sua mágoa por meio de cachorros, gás, cassetetes, cachações e outros meios de diálogo. Quando jornalista militante, a polícia também se chateava com comentários que considerava injustos para com o regime e me dava telefonemas preocupados, sugerindo que talvez fosse melhor para minha saúde que eu, em vez de política, escolhesse como tema a criação de galinhas, ou um campeonato de bridge. Como escritor, tampouco fiz sucesso com a polícia, se bem que hoje vivemos tempos bem mais brandos. Nos tempos não tão brandos, a crítica literária da polícia era severa e sou obrigado a confessar que prefiro a New York Times Book Review. Bem verdade que sempre estive em boa companhia. Recordo um policial que, diante de uma encenação de Antígona, repreendeu a todos com energia, mas benevolentemente. Compreendia que estivessem montando tal porcaria contra o regime, afinal eram jovens desorientados, levados ao pecado pelas ideologias malsãs e pela incúria dos mais velhos, que, em vez de cuidar de nossa educação física e moral, nos expunham àquele lixo mal-escrito. Sim, não tinham culpa os jovens, ele os perdoaria, embora, é claro, não permitisse a encenação. Mas — como é o nome desse sujeito que escreveu a peça? — ah, sim, esse tal Sófocles ele não perdoaria, esse iria em cana de qualquer jeito. Lembro que, na ocasião, fiquei meio aborrecido porque não fui preso e perdi a chance de ser companheiro de cela de Sófocles. Se essa história parece exagero, lembro que, certa feita, a polícia proibiu que o Balé Bolshoi se apresentasse na tevê brasileira, temendo nossa bolcheviquização, a cada vez que um russo fizesse ha-ha-ha-ha com uma espada entre os dentes e desse um daqueles pulos de pernas abertas. A possibilidade de que os brasileiros passassem a andar com uma espada entre os dentes, fazendo ha-ha-ha-ha e dando pulos de dez metros, era certamente alarmante. O catálogo é infindável e o fato é que eu tenho medo de polícia e costumo atravessar para o outro lado do Ku’damm, quando chego perto da delegacia aqui do bairro. Mas destino é destino e estou eu ainda mal-acordado, por volta das oito horas da manhã, aqui em Berlim, quando toca a campainha, vou abrir e quase morro de susto. Dois cavalheiros
sisudos me dizem “guten Tag”, exibem distintivos e anunciam: “Kriminalpolizei!” Só não morri por razões genéticas — na minha família não há cardíacos e morrer de velho é uma questão de honra entre nós, mas meu primeiro impulso foi correr à sacada, gritar “sou inocente”, pular e procurar asilo na embaixada do Gabão. Minha mulher, que estava atrás de mim e também é brasileira, disse “fique calmo, querido, eu vou fazer sua mala, eles aqui não batem, fique calmo”. Fiquei calmo e apenas pernas trêmulas, suor frio, gagueira, queixo batucando e outros sinais discretos traíam minha apreensão. Alguém havia me denunciado por jogar um cigarro na calçada? Teria cometido um crime ao olhar com excessivo vagar uma gordinha nua no Hallensee? Comer uma Bratwurst sem mostarda, como fiz outro dia, seria uma grave ofensa? Estaria sendo confundido com um terrorista? (Sou rotineiramente confundido com qualquer coisa, menos com alemão e brasileiro.) “Escritor!”, disse eu, no meu alemão oligofrênico. “Uso meus dedos assim!”, acrescentei, mostrando com as mãos a diferença entre acionar um gatilho e datilografar. A Polizei não pareceu divertida. Exibiu os distintivos outra vez, pediu algo que eu não entendia e, lá atrás, minha mulher não facilitava as coisas, perguntando quantas cuecas eu queria que ela pusesse na mala. Finalmente, quando eu já ia estender os pulsos para as algemas, descobri que eles falavam inglês e, graças a Deus, entendiam inglês gaguejado. Queriam a chave do sótão. Que chave do sótão, eu nem sabia que aqui havia um sótão. Mostrei todas as minhas chaves, nenhuma chave de sótão. Eles sorriram, despediram-se, foram embora. Nós, contudo, ainda não nos recuperamos, talvez nunca nos recuperemos dessa visita. Passamos a noite em claro, imaginando hipóteses horrendas, cadáveres no sótão, duas toneladas de cocaína no sótão, um vampiro no sótão, as piores coisas no sótão, nunca chegaremos nem perto do sótão durante toda a nossa estada na Alemanha. Mas, no dia seguinte, descobrimos uma carta, pregada no quadro de avisos de nosso prédio. Um vizinho queixava-se de que sua churrasqueira (Lattenroste) tinha desaparecido do sótão e pedia que a devolvessem, ou pusessem oitenta e cinco marcos em sua caixa postal, para pagá-la. Ah, então era esse o crime do Storkwinkel, o mistério da churrasqueira desaparecida! Ficamos aliviadíssimos, nunca nem vimos uma churrasqueira, aqui na Alemanha. Mas a lembrança da Kriminalpolizei ainda estava muito viva e, como se diz no Brasil, seguro morreu de velho. — Mulher — disse eu, depois de ler a carta —, acho que vou comprar uma churrasqueira e deixá-la na porta desse vizinho. — Boa ideia — disse ela. — E, por via das dúvidas, bote também oitenta e cinco marcos na caixa postal dele.
Problemas do intercâmbio cultural
Ainda não consigo crer que os alemães vão espontaneamente a leituras públicas. Não é possível que se chegue do trabalho e, em vez de fazer algo sensato, como tomar um drinque e convidar a vizinha para ouvir uns disquinhos, prefira-se uma leitura. Inconcebível para brasileiros, a não ser sob a mira de uma metralhadora. Na minha opinião, as plateias das leituras são parte de um complô. O DAAD deve ter um esquema especial para arregimentar espectadores, fazendo com que o artista se sinta importante e benquisto, com a vantagem adicional de que assim ele dispõe de anfiteatros para dizer suas bobagens e não vai dizê-las lá no escritório do DAAD. Fico imaginando os telefonemas. — Alô, Berta, como vai, é a Barbara, do DAAD. O quê? Berta, se você desligar, eu conto a seu namorado que você se inscreveu no Tutti-Frutti, eu... Tudo bem, não conto, mas você vai ter que me ajudar. Você está ocupada na sexta à noite? Ah, é? E não dá para arranjar alguém para ficar em seu lugar? Quanto pagam pelo serviço baby-sitter? Dez por hora? Eu pago quinze. Sim, Berta, eu sei que aquela noite foi meio chata, eu sei que nem todo mundo gosta de ficar em silêncio total, enquanto um artista toca um sininho a cada dez minutos e sopra um apito de cachorro, eu sei. Não, não é o que recita em basco, será que você pode me deixar falar? O que belisca? Não, esse já foi embora, pode ficar tranquila. Não, o da próxima sexta-feira é excelente, é ótima pessoa. É, vai ter leitura na língua dele, mas rápida, porque ele não sabe ler direito e o resto do tempo quem vai ler é a tradutora alemã. Claro que ele vai estar vestido e não belisca ninguém! Não, Berta, este é o brasileiro, o da vaca é outro, é o uruguaio, o uruguaio também já foi embora. E vai haver um drinque depois da leitura, uns canapés, conversa... Não, vinte marcos é um assalto, você sabe que o máximo que nós pagamos foi vinte e cinco, assim mesmo porque era o mexicano do poema-ação que no final jogava guacamole na plateia, e nós achamos que era justo contribuir para a conta da lavanderia das pessoas. Está bem, vinte, nem mais um pfennig. Berta, você precisa ter um pouco mais de patriotismo, é um momento delicado para a Alemanha, precisamos trabalhar para a nossa boa imagem, precisamos ampliar nossas relações com todos os povos do mundo, precisamos aprender outras maneiras de ver a vida, precisamos... Ele não queima a Amazônia! Você acha que a gente ia trazer para cá alguém que estivesse queimando a Amazônia? Ele não belisca! Eu sei, Berta, mas eu não tenho culpa se o mexicano beliscou você na Porta de Brandemburgo, ele já tinha falado que considerava a Porta de Brandemburgo um monumento erótico e eu já tinha avisado a você para não sair com latinos, eles acham tudo erótico e acham que as alemãs são todas taradas, é um problema cultural que você tem de levar em conta. Não, ele vai ler uns trechinhos, coisa pequenininha. Está bem, Berta, vinte e quatro marcos, é minha última oferta! Mas, por esse preço, você bem que podia me fazer um
favorzinho, é o seguinte: nós compramos doze exemplares de um livro dele... É, doze. É, eu sei, todo mundo achou isso, tanto assim que a editora dele deu uma festa e eu recebi a Comenda do Mérito da Indústria Editorial Alemã. Mas isso agora não interessa. O fato é que nós compramos esses livros e eu queria que você participasse de nossa Brigada do Autógrafo. É simples, você recebe um livro dele e um papelzinho com sugestões sobre coisas a dizer, “eu fiquei emocionadíssima quando li”, “foi o melhor livro da minha vida”, “gosto muito do décimo quarto capítulo”, coisinhas assim, você pode até improvisar, ele acredita em tudo e não se lembra de nada do que escreveu, não há dificuldade. Eu já disse que ele não belisca. É, pronto, é só isso. Você fica na leitura sem dormir, depois pega o livro dado por nós, escolhe uma frase para dizer e pede o autógrafo. Se ele não der uns quatro autógrafos, vai ser um horror, no dia seguinte ele aparece aqui chorando e dizendo que vai fugir para Bucareste e só melhora depois que eu pagar um sorvete para ele no Zoológico. Está bem, Berta, vinte e cinco marcos. É uma exploração, mas tudo bem. Então você aparece mesmo? Não vá falhar, hem? Escute, Berta, você não tinha uma tia velha que uma vez namorou um brasileiro que fugiu depois de pegar tudo o que ela tinha numa Sparkasse de Bremen e desde esse dia ela ficou maluca e fundou a Associação Bremenense de Ex-Namoradas de Brasileiros, que já reúne umas quinze velhotas? Não, não interessa que todas elas estejam em tratamento psiquiátrico, é até melhor. Será que não dava para você conseguir pelo menos umas cinco, ele adora velhotas e... Não, Berta, pare com isso, ele não vai beliscar as velhas! Está bem, trinta marcos, e não se fala mais nisso! Mas você garante umas cinco ou seis velhas, eu... Berta, não desligue! Tenho a impressão de que Berta é uma magrinha de óculos que me pediu um autógrafo na Kulturhaus olhando para o outro lado e com o braço tão estendido quanto possível, mas não estou seguro. O de que estou seguro mesmo é que as leituras e palestras não são o meio mais eficiente para estreitar os laços teuto-brasileiros. E, num experimento de certa forma pioneiro, venho tentando transferir meu trabalho cultural para a área culinária, que é muito melhor que a literária. Modéstia à parte, tenho tido alguns êxitos e poderia mesmo dizer que, em certos círculos berlinenses, já corre minha fama de mestre-cuca. Mas a vida do embaixador cultural é muito difícil e, quando eu já estava animado, sofri um duríssimo revés, que talvez — ai de mim, de Barbara e de Berta — me obrigue a voltar às leituras. Este, porém, é outro episódio desta luta inglória, do qual os poupo agora, mas com o qual os ameaço depois.
Batalhas culturais
Sim estava eu falando sobre a vida difícil que nós, embaixadores culturais, enfrentamos. Continuo convencido de que leituras, palestras e similares não são o veículo adequado para a aproximação cultural e o melhor caminho para ganhar corações e mentes é mesmo a culinária. Minha experiência berlinense, apesar de um ou dois episódios menos brilhantes e de um grande susto, confirma esta conclusão. Entretanto, por uma questão de honestidade, devo admitir que essa mesma experiência, principalmente o susto, me fez, nos últimos dias, reformular um pouco minha opinião sobre a utilidade das leituras. Agora sei, devido à argúcia de meu filho Bento (nove anos, Halensee Grundschule, Kinderdeutsch fluente, recordista da sala no consumo de qualquer coisa que possa ser engolida), que as leituras também têm seu lugar, embora não de forma convencional, como já se verá. Quando Marc entrou em cena, minha campanha culinária corria bem, entre inúmeros êxitos e um ou dois insucessos de pouca monta. Meu bacalhau à Kantstrasse foi aplaudido de pé aqui em casa, assim como o churrasco Brandemburgo, para não falar na caldeirada Unificação, robusto ragu de carnes, verduras e bananas que levou nosso amigo Bernd, não sei bem por quê, a recitar Heine emocionado. Somente em algumas raras ocasiões, a receptividade talvez não haja sido tão boa, como no caso do meat loaf à baiana, quando eu empreguei alguns condimentos na Bahia usados para dar alguma graça à papinha do bebê, mas aqui provavelmente mortíferos. (Só percebi que algo não correra muito bem depois que os convidados foram embora e minha mulher me disse que não, não era normal, aqui na Alemanha, as pessoas acabarem de comer, levantarem-se cobertas de suor, abrirem a porta da varanda e irem se abanar lá fora sem casaco a dez graus negativos, volta e meia colhendo da sacada um punhadinho de neve para enfiar na boca.) Mas, como já disse, os insucessos foram poucos e a confiança em minha política cultural lentamente se sedimentava. Em relação a Marc, contudo, não houve lentidão nenhuma, os resultados foram espetaculares desde o início. Marc, um alemãozinho sisudo e compenetrado, é colega e amigo de Bento. Identificam-se pelos interesses intelectuais comuns, tais como passar dezoito horas seguidas jogando video games, tomando suco de laranja em quantidades industriais e de vez em quando parando para gritar “Ich habe die Kraft!”. Muito educado, só se exaltando um pouco quando assume sua identidade secreta de He-Man e discute com Bento sobre qual dos dois é o verdadeiro He-Man, Marc sempre foi bem recebido. Mas era tratado da mesma forma que os outros meninos que circulam aqui em casa — talvez oitenta por cento da população infantil de Berlim, segundo meus cálculos, em certas tardes nas quais ninguém aqui consegue ouvir a própria voz ou ir ao banheiro sem se inscrever com pelo menos duas horas de antecedência.
Chegou, porém, o dia do Primeiro Almoço e foi aí que Marc se revelou especial. Bento o convidou para almoçar e ficamos preocupados, porque a comida era toda brasileira. Não era melhor providenciarmos para ele algum prato típico de Berlim? Talvez uma Pizza ou um Dönner Kebab, quem sabe um Çevapçiçi com Pommes Frites, quiçá um argentinischer Rumpsteak — enfim, uma dessas comidas tão alemãs, cujos cheiros sempre nos evocarão Berlim. Marc, muito sério e de braços cruzados, foi inspecionar o fogão. Feijão preto guisado com linguiça, arroz temperado, lombo de porco à carioca e farofa (farinha de mandioca passada na manteiga e misturada com alguns temperos — coisa em que a maioria dos alemães jamais pôs os olhos e, ao experimentar, declara que pó de serra deve ser mais saboroso). Marc fez algumas perguntas rápidas sobre que comidas eram aquelas, ouviu as respostas assentindo gravemente com a cabeça e afirmou que estava tudo muito bem, aquela comida era perfeita, o que demonstrou na prática logo a seguir, comendo de tudo e repetindo feijão com farofa duas vezes. Fiquei emocionado. Marc era agora a cabeça de ponte de minha batalha cultural. Um jovem alemão exposto tão vitalmente à cultura brasileira, ali estava um futuro amigo e amante do Brasil, minha missão cultural abria um novo e fecundo horizonte. Com orgulho paternal, passei a abrir a porta para Marc nos nossos cada vez mais frequentes almoços e responder-lhe “sim, sim, meu caro Marc”, quando ele perguntava se hoje tinha faar-rô-fah. “Esse menino é um talento”, dizia eu a minha mulher. “Precisamos dar um jeito de ele pelo menos passar umas férias no Brasil.” Tive, portanto, um susto enorme, no dia em que Bento e Marc chegaram em casa na hora do almoço, e Marc não quis almoçar. Como? Que tinha acontecido? Alguma briga, algum problema? Doença? No começo, ele não quis responder, mas depois veio para perto da mesa já posta e, com a seriedade habitual, explicou: — Minha mãe disse que eu não posso mais almoçar aqui porque eu volto para casa fedendo a alho. O mundo desmoronou. Então era assim, então não tínhamos mais o nosso Marc? Meus planos, pouco antes tão florescentes, agora iam por água abaixo? Era o que se afigurava, para tristeza geral. Até que, quando tudo parecia perdido, uma nova surpresa trouxe de volta a esperança. Dias depois do choque, os dois apareceram sorridentes e disseram que a mãe de Marc havia concordado em que ele almoçasse conosco sempre que quisesse. Mas que maravilha, como tinham conseguido tal milagre? — Foi fácil — disse Bento. — Eu disse a ela que, se ela não deixasse Marc almoçar aqui, você ia convidar ela para todas as suas leituras e mandar todos os seus livros para ela ler.
O inverno, este desconhecido
Agora que chega a primavera, creio que posso olhar para trás com orgulho e dizer que nosso inverno em Berlim foi um sucesso, contra todas as expectativas. Na ilha de Itaparica, onde eu morava no Brasil, minha fama de mentiroso deve-se muito — embora não inteiramente, pois, afinal, sou escritor e minto profissionalmente — aos invernos alemães, americanos e canadenses que testemunhei e descrevi. Uma vez, depois que contei como rios e cachoeiras ficam congelados, como se faz um buraco no gelo de um lago para pescar e como é ainda escuro às nove horas da manhã, um pescador amigo meu pôs as mãos em minha testa. — Só para ver se você não está com febre — explicou ele. — Eu lhe conheço desde menino e sei que você sempre gostou de umas invenções, mas desta vez está demais, só pode ser delírio de febre. Você acha que eu vou acreditar nessa conversa, eu sou besta? Eu posso não ter estudo como você, mas não sou besta. — Mas é verdade! O lago congela, o sujeito vai lá, serra um buraco no gelo, enfia a linha por ali e pesca. — E o peixe já sai congeladinho, escamadinho, desossadinho e empacotadinho, não sai, não? Não sai temperado também, não? Conversa, rapaz, não está vendo que não pode ser, que ninguém ia morar numa desgraça dum lugar desses? Essa conversa toda é chute, eu posso lhe provar logo que é chute. Quer ver? Por exemplo, esse negócio de ainda estar escuro às nove horas da manhã, você não disse que isso era na Alemanha? — Disse. — Pois então, pois aí que eu lhe provo. Eu posso desconhecer a Alemanha pela geografia, porque não sei onde fica, só sei que fica distante. Mas pela fama eu conheço e todo mundo sabe que alemão é o povo mais organizado do mundo, depois do suíço. Por conseguinte, nenhum alemão ia admitir essa esculhambação. Manhã é manhã, aqui, na Alemanha, em qualquer lugar. Quando o governo alemão visse que só clareava às dez horas, imediatamente baixava o decreto: de agora em diante, as seis horas da manhã passam a ser às dez. Todo mundo sabe que a hora certa de clarear é seis da manhã e não ia ser o governo alemão que ia admitir logo a Alemanha dar o mau exemplo de desorganização. — Não ia adiantar nada porque, nessa época do ano, às quatro horas da tarde já está escuro outra vez. — Como é que é? Ah, essa não! Agora é que estou vendo que o que falam de você é certo: essas suas viagens só servem para você voltar contando lorota para curtir com a cara da gente. Quer dizer que quatro horas da tarde já é noite! Essa nem aqui, nem na China, quanto mais na
Alemanha, não está vendo que não pode ser? Formada em meio a esse ceticismo, a família estava, naturalmente, desprevenida para os rigores do inverno. Senti-me na obrigação de realizar pelo menos um seminário preparatório. Comecei com informações básicas, numa conferência preliminar em que abordei diversos tópicos, tais como o que é inverno, o que é frio (com uma aula prática mais ou menos dentro da geladeira), o que é uma ceroula, por que não se pode passear no Halensee de bermudas e sem camisa em janeiro, como se explica que neve não é algodão nem tem açúcar, e assim por diante. Quando o termômetro começou a baixar, houve um certo clima de excitação e nervosismo, mas, de modo geral, enfrentamos tudo com um galhardia surpreendente. Os únicos problemas sérios que tivemos foram com o nosso aquecedor, que é meio esquisitão e, inicialmente, resolvia parar de funcionar nos momentos mais inconvenientes. Se a gente ia lá, ver o que estava acontecendo, ele reagia com barulhos alarmantes, idênticos aos que a gente ouve no cinema antes de um reator nuclear explodir, ou qualquer coisa assim. E já estávamos convencidos de que ele um dia ia explodir em vez de esquentar, quando minha mulher resolveu a questão. Numa noite particularmente enregelante, em que ele permanecia impassível enquanto nós debatíamos se não seria uma boa ideia sentarmos no fogão ligado ou nos revezarmos dormindo com o tronco enfiado no forno, minha mulher foi lá dentro e, quando voltou, os radiadores ronronavam e estalavam, o aquecedor parecia chiar de contentamento, enquanto sua chama, agora acesíssima, começava a esquentar todo o apartamento. — Eu tive um palpite — contou ela. — Aqueles barulhos que ele faz são para conversar. Ele só quer um pouco de atenção e compreensão, é um aquecedor carente. Eu falei com ele, dei uma alisadinha, e ele funcionou. Como funciona até hoje, muitíssimo bem (descobrimos que o nome dele é Manfred, tem sotaque de Stuttgart e prefere ser alisado do lado direito). E, no mais, o inverno foi todo um descobrir de maravilhas. Patinamos, andamos de trenó, fizemos bonecos de neve, trocamos impressões sobre ceroulas, deixamos panelas cheias de água do lado de fora da janela para fazer gelo, vimos fumacinha sair de nossas narinas, aprendemos o que é inverno. Só não pescamos em lagos congelados. Bem que eu pensei em pescar, mas meu filho me dissuadiu. — Eu não vou pescar no gelo porque não quero contar a meus amigos de Itaparica tudo o que eu fiz aqui na Alemanha — me disse ele. — E qual é o problema? — disse eu. — Pode contar. — Eu sei — disse ele. — Mas pescar em lago gelado, não. Já basta um com fama de mentiroso na família, não é? E, na hora de contar que minha mãe conversava com o aquecedor, quem conta é você, está bem?
Os índios de Berlim
Uma coisa eu aprendi, nesta minha temporada berlinense: só apareço outra vez na Alemanha depois de frequentar um curso sobre a Amazônia e ler pelo menos uma bibliografia básica sobre os índios brasileiros. As coisas aqui podem ficar difíceis para brasileiros como eu, que não entendem nada de Amazônia e de índios. Ao serem informados dessa minha ignorância, alguns alemães ficam tão indignados que desistem imediatamente de conversar comigo. Outros, talvez a maioria, se recusam a acreditar em algo tão inaceitável, não ouvem minhas negativas e vão em frente, num diálogo às vezes um pouco esquizofrênico. — Deve ser fascinante a Amazônia, não é? — Deve ser, sim. Certamente que é. — Compreendo o que você quer dizer. Para você, imerso na Amazônia, é difícil ter a mesma visão fascinada que um estrangeiro. Para quem está de fora, contudo... — Não é bem isso, é que eu nunca vi a Amazônia. — Você mora fora do Brasil desde criança? — Não, moro no Brasil mesmo. Mas nunca vi a Amazônia. — Meu Deus do céu, o que é que você está me dizendo, que coisa horrível! — Sim, bem... Eu... — Eu não sabia que a devastação havia chegado a esse ponto, que horror! Você não chegou a ver a Amazônia! Quando nasceu, ela já tinha sido em grande parte destruída, queimada, arrasada! Você não acha isso um terrível crime contra a Natureza, o planeta? — Sim, claro que acho. Mas não é isso, é que eu... — Você não concorda em que é preciso conter de qualquer maneira a devastação da Amazônia? — Concordo, concordo. — Eu não esperava outra atitude de sua parte. Realmente é uma coisa terrível. Helga, venha cá, escute aqui o que este amigo brasileiro está me contando sobre a Amazônia, ninguém melhor do que um brasileiro para nos mostrar a verdade sobre a Amazônia, e o que ele está me contando é de estarrecer, é muito pior do que nós pensávamos! Imagine que ele nasceu e se criou no Brasil e não chegou a ver a Amazônia! A destruição já se estendeu a tal ponto que não deu para ele ver mais nada! Conte aqui, meu caro amigo, conte aqui para a Helga o que você acaba de me contar, realmente é terrível Helga, ele me disse que... Em leituras, palestras e ocasiões semelhantes, a situação piora, porque a pressão é
coletiva. Acabo de falar, levanta-se um senhor com ar de reprovação perplexa e me diz: — Eu li aqui num jornal que o senhor disse que nunca tinha visto um índio. Isto é verdade? Zum-zum-zum na plateia. Aquilo branco na mão do rapaz de cabelo punk será um ovo prestes a ser lançado em minha direção, se eu der a resposta errada? A senhora da primeira fila estará erguendo a sombrinha? O grupo de estudantes lá atrás mexe-se para levantar-se e prorromper em estrepitosa vaia? Numa crise internacional deste porte, é necessária alguma criatividade. — Claro que não — respondo jovialmente. — Isso é mentira de jornal, jornal mente muito. Todo dia eu vejo índios. Quando eu era menino, os índios costumavam sair da selva do outro lado da rua e pulavam o muro do nosso quintal para flechar as galinhas. Ultimamente eu estava morando no Rio de Janeiro, onde há relativamente poucos índios, mas assim mesmo dá para a gente ver uns duzentos ou trezentos por dia. Alívio geral. Sorrisos, entreolhadas satisfeitas, um mar de mãos levantadas, perguntas e mais perguntas. — E eles mantêm seus costumes, lá no Rio? — Depende da tribo. Algumas estão mais ou menos assimiladas. Outras não, de forma que é bem possível você estar num ônibus e no mesmo banco sentar-se um indiozinho nu e todo pintado. — E quanto ao canibalismo? — Está praticamente em desuso, apesar de alguns grupos ecológicos que protestam contra a repressão branca a esse milenar costume índio. Mas de vez em quando a gente ouve falar que comeram alguém, geralmente um deles mesmos. — E qual é sua posição quanto ao extermínio dos índios? — Radicalmente contra, claro. Até porque isso para mim seria praticamente um suicídio. Como vocês veem claramente pelo meu tipo físico, eu tenho sangue índio. Um quarto. Minha avó paterna era da tribo Caeté, famosa por ter comido um bispo português no século XVII. Aplausos, apertos de mãos calorosos, sucesso. Tanto sucesso que acho que vou adotar o mesmo tipo de abordagem em todos os setores da vida, enquanto estiver aqui em Berlim. Acho, não, já adotei, pensando bem. Ontem mesmo minha mulher atendeu o telefone, falou um pouco e pediu à pessoa do outro lado que esperasse um pouco. — É um alemão muito simpático — disse ela —, que está produzindo uma peça de rádio sobre a Amazônia e precisa de vozes de crianças amazonenses. Aí ele soube que nós temos dois filhos pequenos e quer saber se eles podem fazer essas vozes na peça. Explico a ele que nossos meninos não são da Amazônia, nem nunca estiveram lá?
— Não — disse eu. — Pergunte quanto ele paga. E diga que, se precisar de alguém para o papel do cacique, eu faço.
Procurando o alemão
No começo, parecia fácil. Afinal, estamos na Alemanha e encontrar um alemão devia ser comuníssimo. Durante muito tempo, chegamos mesmo a achar que já conhecíamos uma porção de alemães. Mas agora não. Agora sabemos que as coisas não são tão simples assim e estou até com um certo receio de que chegue a hora de voltarmos ao Brasil sem termos sequer visto um único alemão. Comecei a descobrir isto por acaso, conversando com meu amigo Dieter, que eu pensava que era um alemão. — Que coisa — observei, enquanto bebericávamos uma cervejinha num boteco da Savigny Platz —, já faz um ano que moro na Alemanha, como o tempo passa depressa! — Sim — disse ele. — O tempo passa depressa, sim, e você acabou não conhecendo a Alemanha. — Como “não conhecendo a Alemanha”? Durante este tempo todo, eu praticamente não saí daqui. — Exatamente. Berlim não é a Alemanha. Isto aqui não tem nada a ver com a verdadeira Alemanha. — Nunca esperei ouvir isto em minha vida. Se Berlim não é Alemanha, não sei mais o que pensar, tudo o que aprendi sobre a Alemanha até hoje deve estar errado. — Então você acha que uma cidade como esta, com gente de todo o mundo, onde a maior dificuldade é achar um restaurante que não seja italiano, iugoslavo, chinês ou grego — tudo menos alemão — e o almoço de noventa por cento da população é döner kebab, onde você pode passar a vida toda sem falar uma palavra em alemão, onde todo mundo se veste de maluco e usa penteados que parecem uma maquete da Philharmonie, você acha que isto aqui é a Alemanha? — Bem, sempre achei, não é? Afinal, Berlim... — Pois está muito enganado, enganadíssimo. Berlim não é a Alemanha. A Alemanha, por exemplo, é minha terra, onde você nunca esteve. — É, talvez você tenha razão. Afinal, você é alemão e deve saber o que está dizendo. — Eu não sou alemão. — Como? Ou eu estou maluco, ou você quer me deixar maluco. Você acaba ou não acaba de dizer que nasceu numa terra verdadeiramente alemã? — Sim, mas isto não quer dizer nada, no caso. Minha terra é alemã, mas eu não me sinto alemão. Não me identifico com o espírito alemão. Acho os alemães um povo sombrio, sem
graça, fechado... Não, eu não sou alemão, me identifico muito mais com povos como o seu, gente alegre, relaxada, risonha, comunicativa... Não, eu não sou alemão. — Dieter, deixe de conversa, claro que você é alemão, nasceu na Alemanha, tem cara de alemão, sua língua é o alemão... — Minha língua não é o alemão. Eu falo alemão, mas, na verdade, minha língua-mãe é o dialeto lá de minha terra, que parece com alemão, mas não é. Mesmo depois de anos morando aqui, eu me sinto mais à vontade falando meu dialeto, é muito mais espontâneo. E, lá em casa, se eu não falar a língua de nossa terra, minha avó não entende nada. — Espere aí, você está me confundindo cada vez mais. Você disse que sua terra é alemã por excelência e agora diz que lá não se fala a língua da Alemanha. Eu não estou entendendo. — Muito simples. Isto que você chama de língua da Alemanha, é o Hochdeutsch, que não existe, é uma invenção, uma abstração. Ninguém fala Hochdeutsch, a não ser na televisão e nos cursos do Goethe Institut, é tudo mentira. O verdadeiro alemão não fala Hochdeutsch em casa, a família toda ia pensar que ele estava maluco. Nem o Governo fala Hochdeutsch, antes muito pelo contrário, basta ouvir certos discursos por aí. Está cada vez mais claro que você não conhece mesmo os alemães. Depois dessa descoberta, fizemos diversas tentativas de conhecer um alemão, mas todas, apesar de muito esforçadas, têm invariavelmente falhado. Entre nossos amigos de Berlim, não há um só alemão. Em números aproximados: quarenta por cento se acham berlinenses e consideram os alemães um povo exótico que mora longe; trinta por cento se sentem ofendidos com a pergunta, indagam se estamos querendo insinuar alguma coisa e fazem um comício contra o nacionalismo; quinze por cento são ex-Ossies que não conseguem se acostumar a não ser mais Ossies; e os restantes quinze por cento não se sentem alemães, povo sombrio, sem graça, fechado etc. etc. Como nos resta pouco tempo aqui, a situação está ficando séria. Resolvemos até investir modestamente em algumas viagens. Escolhemos Munique para começar e estávamos todos muito contentes com a perspectiva de finalmente vermos alguns alemães, quando o Dieter apareceu para uma visita e nos explicou desdenhosamente que em Munique não encontraríamos alemães, mas bávaros, uma coisa é a Alemanha, outra é a Baviera, não existem coisas mais diferentes neste mundo. Um tantinho desapontados, fomos do mesmo jeito, gostamos muito, mas voltamos com a sensação chata de que não tínhamos visto nada da Alemanha, não é fácil conseguir ver a Alemanha. Não sei bem ainda o que vou fazer para evitar a vergonha que vou passar no Brasil, ao regressar da Alemanha tendo que confessar não haver conhecido a Alemanha. Uma coisa, no entanto, é certa: vou reclamar do DAAD por falsas promessas e deixar bem claro que, da próxima vez, ou eles me trazem para a Alemanha
ou não tem conversa.
Pequenos choques (Quatro anotações de um visitante distraído)
ALEMÃES NUS — Fomos ao Halensee outra vez, ver alemães nus. Os brasileiros não acreditam em nudez sem malícia e esse espetáculo para nós é espantoso. Por que ninguém olha para ninguém? Lembro uma vez em que fui convidado para almoçar no Playboy Club de Chicago, onde bebidas e comidas eram servidas por moças de maiô cavado e decotes que não escondiam nada. Claro que a maior parte dos homens ali tinha vindo exatamente para ser servida por moças semidespidas, mas todos aparentavam a mais completa indiferença à presença delas, a ponto de meu anfitrião, que estava sentado num lugar de acesso incômodo, não ter interrompido nem um instante sua palestra sobre problemas editoriais, enquanto uma bunny lhe servia a salada com um peito praticamente enfiado em sua orelha. Nunca conversei e almocei com um peito enfiado em minha orelha, mas imagino que minha concentração ficaria um pouco perturbada. Magnífico exemplo de autodomínio americano, porque é claro que, de volta a seu escritório, ele deve ter passado o resto da tarde coçando a orelha. Mas aqui, aqui também será uma questão de autodomínio? Não sei. Olho em torno, tão discretamente quanto possível, para não destoar da atitude geral, e não sinto nem de perto a necessidade de autodomínio que pode acometer qualquer um, inclusive alemães, numa praia do Rio, onde ninguém fica realmente nu. Aliás, não sinto necessidade de autodomínio nenhum, de repente até me desinteresso em continuar olhando as duas jovens bonitinhas que fazem ginástica peladas. Não há sexo aqui, só gente nua. Por alguma razão, acho isso inquietante. Nunca pensei em testemunhar (e partilhar) uma tão assombrosa obliteração da libido. Como é que é isso? Sim, há as respostinhas de sempre, diferenças culturais, coisas assim. Mas, não sei por quê, essas respostas não me parecem convincentes, pelo menos agora, enquanto vivo a experiência. Se for problema cultural, por que eu, que não sou alemão, me sinto tão genuinamente indiferente à nudez geral quanto eles parecem sentir-se? Ou se sentem mesmo? Que coisa esquisita é esta? Estão me escondendo algo? Dou uma mirada final naquela pequena multidão pelada e decido que não venho mais ao Halensee em dia de sol, perdi o interesse pela investigação desse assunto perturbador. Quando voltar ao Rio, vou imediatamente à praia. A BANDEJINHA — Os alemães não notam. Sei disso porque já tentei conversar com diversos deles sobre o assunto e eles não compreendem o que quero dizer, não veem nada do que vejo. Em compensação, outros brasileiros notam, logo não devo estar inventando coisas.
Refiro-me a dinheiro, mais precisamente a pagamentos. O relacionamento dos alemães com dinheiro é muito diferente do nosso. Claro, dirão os mais bem-informados, na Alemanha existe dinheiro e no Brasil existem apenas uns papeluchos engraçados que mudam toda semana e que o governo insiste em dizer que é dinheiro, mas ninguém acredita. Verdade, verdade, cruel verdade, e certamente isto tem qualquer coisa a ver com o problema, mas há algo mais, porque já estive em muitos outros países onde também há dinheiro e insisto que os alemães são diferentes. No começo, a gente se assustava e eu atribuía tudo a minha aparência de contrabandista paraguaio foragido da Interpol. Mas depois percebi que o fenômeno é genérico e cheguei mesmo a inventar maneiras de me divertir com ele. Repito que isso é imperceptível para os próprios alemães, assim como um peixe deve achar que o mundo é feito de água, mas a primeira coisa que a gente nota, na hora de pagar, é que se estabelece um imediato clima de ansiedade e tensão, que só se dissipa depois que tiramos o dinheiro do bolso, pagamos e recebemos o troco, tudo rigorosissimamente contado. “São dezoito marcos e vinte e dois”, diz a mocinha do balcão, e um silêncio carregado se estabelece, enquanto os olhos dela acompanham nervosamente o desenrolar da operação. A impressão que se tem é que, se alguém der um tiro de canhão lá fora, ela só vai perguntar o que houve depois de ter certeza de que tudo foi feito corretamente. Pagamento completado, tudo certo, o ambiente se desanuvia, há sorrisos, quase suspiros de alívio — que barulho foi esse lá fora, alguém deu um tiro de canhão? Num táxi carioca, o passageiro é quem pergunta quanto foi a corrida, enquanto o motorista se queixa dos buracos no asfalto ou indaga se não é nesta rua que mora uma famosa cantora. Na Alemanha, o motorista para, desliga o taxímetro e, antes que outra palavra seja pronunciada, anuncia o custo. Não me lembro de ter perguntado, na Alemanha, o preço de qualquer coisa ou serviço. Assim que se torna evidente que vou comprar, o atendente me diz quanto devo, sem esperar que eu pergunte (e o tal clima ansioso se instaura instantaneamente). Se eu nunca tivesse ouvido falar na Alemanha e de repente me visse vivendo aqui, ia passar algum tempo achando que uma das coisas mais comuns aqui é o sujeito entrar numa loja, pedir uma coisa e sair sem pagar — daí o nervosismo que envolve os pagamentos. Finalmente, a bandejinha. Agora já sabemos que, quando Deus criou o mundo, criou a bandejinha e que sem ela a civilização é impossível, mas levamos algum tempo para nos habituarmos. A bandejinha me pegou logo nos primeiros dias de minha vida em Berlim, na tabacaria aqui da esquina. Pedi um maço de cigarros, fui imediatamente informado do preço, estendi o dinheiro para a senhora do balcão e ela não o tomou da minha mão, mas apenas me encarou em silêncio, com um ar severo e talvez um pouco impaciente. Não entendi, me atrapalhei, conferi o dinheiro — qual era o problema? Só então observei que o olhar dela ia de meu rosto para a bandejinha ao lado da registradora. Já conhecia a bandejinha de breves
estadas anteriores na Alemanha, mas havia esquecido dela. Claro, a bandejinha! Depositei o dinheiro na bandejinha, ela fez a cara satisfeita de quem havia acabado de dar uma lição, agradeceu e pôs o troco na bandejinha. Depois disso, ainda tive alguns problemas por esquecer da bandejinha, como no dia em que entreguei o dinheiro da passagem ao motorista de um ônibus e ele me disse algumas coisas que não entendi, mas que tenho certeza de que não eram para me elogiar. Agora não esqueço mais, cumpro os usos da terra e não discuto. Não sei por que os alemães não gostam de que lhes entreguem o pagamento diretamente nas mãos, não sei nem se é uma exigência do Bundesbank, mas nem esmola eu dou mais na mão, aqui em Berlim. Jogo a moeda no chapéu ou na caixinha do pedinte, não quero ser espinafrado em plena Breidscheidplatz. E, de qualquer forma, como disse antes, a bandejinha às vezes me diverte. Vingo-me todo dia do motorista de ônibus que me disse desaforos por causa da bandejinha. Conto cuidadosamente moedas, fazendo questão de incluir muitas de dez pfennige, junto o preço exato da passagem e ponho uma pilhazinha na bandeja. E — Deus há de perdoar-me — tenho um prazerzinho sádico em ver o sobressalto do motorista e o gesto ansioso com que ele espalha as moedas para contá-las e, dois segundos depois, quase despenca na cadeira, aliviado em ver que a conta está certa e que, no meio das moedas, não há nenhum zloty, ou qualquer coisa assim. Mas vou parar com isso, tenho medo de algum dia matar um de enfarte. TRÁFEGO — Para brasileiros, uma das atrações turísticas de Berlim é assistir às pessoas esperando disciplinadamente que o sinal abra, para que elas atravessem a rua. Isto é considerado uma absoluta e inédita maravilha, merecedora de horas de contemplação, comentários abismados e cartas estarrecidas para os amigos. Quanto ao tráfego de veículos, a admiração é ainda maior e, quando um berlinense se queixa do trânsito, os brasileiros pensam que ele está brincando. No Brasil, as coisas muitas vezes são exatamente o oposto do que acontece na Alemanha. Diz-se que, se dois alemães estão atravessando uma rua sem sinal e um deles se assusta com o aparecimento repentino de um carro, o primeiro fala para o segundo: “Não se assuste, que ele já nos viu.” Na mesma situação, o brasileiro diz para o outro: “Corra, que ele já nos viu.” Também se conta a história de um estrangeiro (quem sabe um alemão), num táxi em São Paulo, fechando os olhos a todo momento, porque o motorista não parava em nenhum sinal vermelho. Mas, no primeiro sinal verde encontrado, o motorista parou um instante. Espantado, o passageiro perguntou por quê. “Ah, no sinal verde tem que parar”, explicou o motorista, “porque às vezes vem um maluco dirigindo pela outra rua”. Em suma, em relação ao Brasil, a Alemanha está atrasadíssima quanto a problemas de trânsito, ninguém aqui realmente sabe o que é um problema de trânsito, são todos uns amadores principiantes. Dir-se-ia então que é mais difícil um brasileiro ser atropelado em Berlim do que um nadador olímpico se afogar numa piscina infantil. Ledo engano, conclusão precipitada. Tanto
eu quanto minha mulher, que sobrevivemos rotineiramente à travessia das ruas mais conflagradas do Rio de Janeiro, já fomos atropelados diversas vezes em Berlim. O recordista sou eu, com uns oito casos, todos sem maiores consequências, a não ser uma contusãozinha ou outra e protestos indignados por parte dos atropeladores. Sim, porque não fui atropelado por carros, ônibus ou caminhões, mas pelo mais terrível, impiedoso e ameaçador veículo que circula pelas ruas de Berlim: a bicicleta. Desenvolvi tanto medo de bicicleta que, outro dia, ao vislumbrar a distância uma horda de bicicleteiros tornada ainda mais ensandecida porque o sol nessa hora fazia uma de suas cinco aparições anuais, não resisti e me abriguei atrás de uma árvore até eles passarem, numa velocidade que certamente lhes garantiria uma boa classificação no Tour de France. Se existe algo mais sagrado do que a bandejinha, é a pista das bicicletas. As únicas ocasiões em que os passantes aqui me notaram — e em muitas delas se dirigiram a mim como se eu tivesse sido flagrado conspirando para derrubar o governo e as instituições — foi quando, por distração, parei em alguma pista de bicicleta. Ou mesmo quando paro involuntariamente, como em certos pontos onde a porta do ônibus dá exatamente em cima delas. Tem-se que ter agilidade para descer e pular imediatamente para um local seguro, porque alguma patrulha de bicicleteiros deve estar sempre a postos nesses lugares, já que uma demora de mais de dois segundos me rende uma guidãozada nas costelas, seguida de comentários desairosos a respeito de minha capacidade mental. Acho que nunca mais na vida vou poder encarar uma bicicleta sem estremecer, mas há sempre um aspecto positivo. Neste caso, pelo menos a ciência fez algum progresso, pois creio que sou o primeiro caso documentado de uma doença que pode vir a tornar-se epidêmica e para a qual sugiro o nome de Bicyclophobia berlinensis. Ainda não se conhece a cura, mas andar em ruas arborizadas ajuda a minimizar os sintomas. E a prevenir os atropelamentos, é claro. OLHAR — Isto é difícil de explicar. Toda vez que tento explicar isto a meus amigos alemães, o máximo que consigo é que façam uma cara travessa e comentem como, nos trópicos, o erotismo faz parte do ar que se respira. Pode ser, mas, por exemplo, não alimento a intenção de seduzir nenhum dos passageiros do ônibus em que viajo, para ir comprar jornais no Europa Center. Só sinto falta de olhares. Lembro dos pelados do Halensee. Lá, como neste ônibus, ninguém olha para ninguém, dá para o sujeito sentir-se invisível. Os olhares que por acaso se cruzam são logo desviados, cada qual se recolhe em seu silêncio e eu fico meio solipsista. Desço do ônibus, passa uma mulher alta e vistosa, com uma roupa colante que lhe realça as belas formas. Resolvo fazer uma observação sociológica. No Brasil, não só muitos dos homens ali presentes virariam a cabeça para apreciar a passagem dela, como alguns se entreolhariam significativamente depois que ela se fosse, ou mesmo trocariam comentários de aprovação. Parei, segui a mulher com a vista, avaliei as pessoas em torno. Ninguém se voltou. Ninguém nem olhou para ela, aliás; só eu mesmo.
No Brasil, muitas vezes me queixo de que as pessoas falam alto demais, se olham, pegam, esfregam, abraçam e beijam demais. Já aqui, sinto uma espécie de privação sensorial. Penso em Montaigne, que, se não me engano, escreveu que o casamento é como uma gaiola: o passarinho que está dentro quer sair, o que está fora quer entrar. Acho que isso pode estenderse a tudo na vida, porque hoje, particularmente, eu gostaria de ter voltado para casa com a sensação de que alguém na rua me viu, e fiquei com saudades de casa.
Despedida
O apartamento onde moramos, nesta temporada berlinense agora prestes a encerrar-se, é alugado pelo DAAD. Depois que formos embora, o Heinrich aparece aqui e ajeita as coisas para os novos ocupantes que virão. Está tudo muito certo, é isso mesmo, mas a verdade é que tenho ciúmes. Este apartamento é nosso, é a nossa casa em Berlim, conhecemos todas as suas manhas, vivemos nele instantes memoráveis, cada um de nós já tem nele seu cantinho favorito, não é possível aceitar esta separação cruel. Acho que, quando voltar a Berlim, terei mais uma vez problemas com a polícia, porque não vou resistir ao impulso de vir aqui a este endereço do Storkwinkel, bater na porta e dizer ao ocupante que saia imediatamente de minha casa. Posso não ganhar a parada, mas tenho certeza de que encontrarei algum apoio. Nosso carteiro, que coleciona selos, ficou meu amigo e gosta dos selos brasileiros que lhe dou e que daqui a pouco não vou poder dar mais. Frau Hock, nossa Eingentümerin, é amiga de meu filho. Uma velhotinha que trabalha no supermercado da esquina mantém um namoro secreto comigo — toda vez que nos vemos, trocamos piscadelas marotas. Fiquei célebre e respeitado em toda a vizinhança, por haver ganho o concurso de melhor boneco de neve do quarteirão, no inverno passado. Nossa casa é uma espécie de sucursal berlinense da Unicef, frequentada por toda a população infantil da Rathenauplatz e cercanias e fornecedora de quantidades industriais de pipocas, sanduíches, biscoitos, suquinhos e similares. E, finalmente, descobri um jeito de passar as chaves na porta que torna impossível qualquer outra pessoa abri-la (e acho que é isso que vou fazer, antes de embarcarmos; a melhor defesa é um bom ataque, não tomarão nosso apartamento sem luta). Percorro com melancolia os aposentos onde vivemos todo este tempo. Para um estranho, aquela sala de jantar não diz nada, é uma sala de jantar como outra qualquer. Mas para mim não, para mim ela é carregada de atmosfera e história, palco de cenas inesquecíveis. Lembro, por exemplo, a Batalha de Berlim, ocasião em que, com a casa cheia de hóspedes, vencemos os mais terríveis desafios. A Batalha de Berlim durou uns dez dias e começou no dia em que uma brigada de encanadores e pedreiros, rosnando em dialeto e com um humor comparável ao da Besta do Apocalipse, invadiu a casa para consertar o banheiro. No primeiro dia, destroçaram metade de uma parede, arrancaram o chuveiro e desalojaram a banheira para trazer uma nova, que depositaram nessa mesma sala, onde ela permaneceu até que eles concluíssem a demolição. Tenho vívidas recordações do olhar de nossas visitas alemãs, ao verem a banheira na sala, e vontade mais vívida ainda de haver escutado o que devem ter contado por aí, a respeito do curioso hábito brasileiro de comer tomando banho, ou usar a banheira como saladeira, ou algo assim. E me sinto herdeiro das melhores tradições heroicas de Berlim, ao recordar como, em meio a um caos de poeira, marteladas e imprecações em
português, dialeto berlinense e alemão de índio, consegui, ainda que por vezes tendo de brandir uma vassoura ou cadeira, coordenar o uso das pouquíssimas horas diárias de banheiro por dois adultos, quatro adolescentes (que consideram seu direito sagrado morar no banheiro) e duas crianças (que sempre têm que ir imediatamente ao banheiro, sob pena de sermos obrigados a comprar um tapete novo). E a cozinha, onde se desenrolaram muitos outros acontecimentos momentosos, como o dia da crise de nervos de Dona Frieda, nossa saudosa máquina de lavar, hoje aposentada e substituída por Olga, que é nova e boa, mas à qual realmente nunca nos afeiçoamos como a Dona Frieda. Dona Frieda foi acometida por convulsões durante uma centrifugação e disparou aos estertores por toda a cozinha, até que conseguimos desligá-la, após o que ela ainda emitiu uma espécie de uivo, espirrou água para todos os lados e, infelizmente, teve que ser levada embora, já inconsciente. A cozinha de tantas aventuras culinárias, do concurso de Bouletten, do aquecedor com problemas psicológicos... A varandinha de onde vimos o desfiar das estações do ano, o sofá onde sentamos à noite para conversar... Sim, toda esta casa agora é parte de nossa vida. Inclusive, é claro, este gabinete em que me habituei a escrever e transformei numa toca onde somente eu, e às vezes nem eu, sei onde estão livros, papéis, canetas e todos os entulhos habituais de minha profissão. Diabo, tenho mesmo ciúme deste gabinete. Será usurpado por outro saltimbanco das letras igual a mim, que vai mudar coisas, vai trazer seus próprios fantasmas, vai tomar de mim as duas grandes árvores que vejo pela janela e os dois passarões que nela moram — não está certo. Mas temos mesmo de ir embora, faltam poucos dias. E, como sempre, parece que foi ontem a nossa chegada, o tempo é realmente como dizem em minha terra: o dia passa devagar, o ano passa depressa. Adeus, Berlim, a nova Berlim que vi nascer, na nova Alemanha que também vi nascer. Adeus vocês, meus quatro ou cinco pacientes leitores, desculpem minha prosa modesta. Despedida é uma coisa muito chata, mas esta talvez nem tanto, porque eu sei que volto, sei que a Alemanha não vai livrar-se de mim tão facilmente, agora já temos uma certa intimidade. Não posso dizer quando, mas volto. Enquanto isso, deem uma olhadinha no meu apartamento de vez em quando e digam à velhinha do supermercado que jamais a esquecerei.
Storkwinkel 12, Rio
Voltamos altamente berlinenses. Meu filho querendo um corte de cabelo punk, minha filha mais nova falando português com sotaque alemão (até hoje não pronuncia bem os ditongos anasalados portugueses) e minha mulher e eu usando um dialeto doméstico ininteligível tanto para brasileiros quanto para alemães, a mesma coisa que ocorre com o dialeto de Berlim. A palavra strapaziert, por exemplo, que primeiro vimos na Alemanha quando tentávamos decifrar um rótulo de xampu, nos pareceu extraordinariamente expressiva. Pronunciada estrapazirte, adquiriu uso genérico para qualquer coisa ou pessoa que se apresente em frangalhos ou despencada. Nunca mais, não sei por quê, dizemos que está chovendo, só esrréguinite (es regnet). Se vamos juntos a algum lugar, vamos “com Suzana” (zusammen). E temos ainda sutoia (zu teuer), abanatúliche (aber natürlich), ichicome (ich komme), vifio (wiviel), espeta-espeta (später, später), bisduferrúquite (bist du verrückt) e muitas outras — fala-se bastante alemão aqui em casa, embora receie que não propriamente Hochdeutsch. As readaptações, de modo geral, não se revelaram muito difíceis. A do dinheiro foi a mais complicada e, pensando bem, até hoje não estamos perfeitamente reintegrados. Quando chegamos, as notas tinham mudado e falava-se em milhões para comprar pouco mais que cigarros. Periodicamente, os brasileiros fazem uma reforma monetária, que consiste em arranjar um nome novo para a moeda e cortar-lhe três zeros. Meses depois, essa nova moeda já não vale mais nada, inventa-se outro nome, cortam-se três zeros e assim sucessivamente. O resultado disso é que os jovens não sabem bem o que é dinheiro e os mais velhos, como eu, não compreendem mais nada. Frequentemente, não consigo atinar que notas na minha carteira correspondem à soma citada pelo vendedor e, como um débil mental, sou obrigado a pedir-lhe que apanhe ele mesmo o dinheiro. Creio que o nome da moeda atual é “cruzeiro real”, mas não tenho certeza, até porque, com uma inflação que está chegando aos dois por cento ao dia, os brasileiros usam dezenas de índices complicadíssimos e expressos por siglas sinistras — UFIR, UVR, TR, IGP e assim por diante, não sei o que quer dizer nenhum deles. E, não importa que índice se use, os preços sobem todos os dias. Quando expressos em cruzeiros, são assustadores e duvido que um alemão não tivesse uma crise de pânico ao lhe ser apresentada uma conta de 17.850.000,00 por um almoço, até descobrir que isso daria aí uns trinta ou quarenta marcos. As máquinas de calcular enlouqueceram (eu também, é claro) e as filas de banco são as maiores do mundo, porque quem recebe algum dinheiro precisa aplicá-lo instantaneamente, para que ele não desapareça no dia seguinte. Minha mulher ficou meio chorosa, quando tivemos de trocar os preciosos marquinhos sobrados da Alemanha, pelo papel colorido que aqui circula tão
voluvelmente. Já a readaptação ao tráfego não foi tão dura quanto esperávamos. Como talvez lhes tenha dito, todos os motoristas brasileiros, especialmente cariocas, consideram seu direito sagrado atropelar qualquer pessoa que esteja atravessando uma rua sem sinal (com sinal, alguns respeitam, mas com enorme relutância, como se estivessem sendo vítimas de uma grave injustiça social). Trata-se de uma espécie de esporte. O motorista vê o pedestre à distância, aponta o carro em sua direção e acelera. Ninguém se aborrece muito, faz parte da ordem natural das coisas. Tínhamos medo de haver perdido os reflexos, mas os bicicleteiros de Berlim, que são ainda mais temíveis que os motoristas cariocas, nos ajudaram a conservá-los (a primeira e única vez em que dei meio salto-mortal, para salvar minha vida, foi no dia em que enfrentei uns oito bicicleteiros berlinenses em sucessão, na Friedrichstrasse). Na verdade, ser uma pessoa viajada tem suas vantagens sociais. Outro dia, depois que os motoristas, aqui numa avenida do Rio, se comportaram como pilotos de Fórmula 1 na largada e uma senhora reclamou, pude retrucar, com ar superior: “Isto não é nada. A senhora devia ver os bicicleteiros de Berlim.” Saudades? Sim, as mais variadas saudades. Saudades de passear na Breidscheidplatz, perdendo dinheiro naquelas loterias de barracas e vendo os artistas de rua. Saudades da Philharmonie e do Museu da Música. O cineminha de língua inglesa, que depois fechou, no Ku’damm. A Bratwurst do Frank’s, pertinho lá de casa. Os elefantes do Zoológico. Os bonequinhos de neve, que fizemos no Natal. Minha querida Monatskarte, com a qual eu saía para onde quisesse. A velhinha do supermercado da esquina. A papelaria favorita, na Uhlandstrasse. O cheiro das padarias. As tardes de outono, com as folhas coloridas dançando em nossa sacada. Os meninos indo para a escola, tagarelando em alemão alegremente, como se nunca houvessem feito outra coisa na vida. Meu gabinete, minha mesa, minha janela, minha árvore no quintal. O boteco do Ku’damm aberto noite e dia, que anunciava garçons bêbados, café frio, Coca-Cola quente e comida ruim. E a Berlim secreta, que nunca penetrei e talvez não tenha querido penetrar, mas que pressentia em certas esquinas, praças e ruelas — eu estava em Berlim e isso certamente me mudaria para sempre. Muito tarde, brasileiro aos cinquent’anos, para tomar intimidades excessivas com Berlim. Bastava, como basta, que eu no fundo a entenda e ela no fundo me aceite. Ou seja, saudades banais, como todas as saudades mais pertinentes e persistentes. Gostaria de ser profundo. Ou chato, que muitas vezes é sinônimo de profundo. Mas não sou profundo e aspiro a não ser chato. Fico aqui pensando se valeu a pena essa temporada em Berlim. Claro que valeu, aprendemos, crescemos. Hoje, não posso ler nada sobre a Alemanha com os olhos de antes, tenho uma nova compreensão, que nenhum livro pode dar, somente a vivência. Minha segunda filha, cuja mãe descende de alemães, virou alemã depois de visitar
me em Berlim, agora mora em Göttingen. Meus dois filhos pequenos, que viveram conosco no Storkwinkel 12 e que frequentaram a Halensee Grundschule, têm um pedaço de Berlim em suas histórias. O apartamento que nos abrigou será sempre um pouco nosso, tem intimidade conosco. Há novos muros de Berlim, novas cortinas de ferro, novas barreiras, ódios velhos renovados. Os famintos e perseguidos batem à porta dos prósperos — prósperos estes muitas vezes às custas dos que exploraram tanto tempo — e as portas se fecham. O diferente é visto com desconfiança ou desprezo. O diferente é inimigo, o fanatismo substitui a razão e a fraternidade, as religiões humanistas se pervertem, o homem é cada vez mais o lobo do homem. Lobo ainda pior do que o de Hobbes, porque muitas vezes não reconhece plena humanidade no objeto de seu desprezo. E tudo isso por quê? Por causa de uma centelha de vida insignificante, frágil, efêmera e quase sempre ridícula, num planetinha pretensioso, entre pessoas e povos ainda mais pretensiosos, que julgam, temem e odeiam os outros pela língua, pela cor, pela cara, pela comida e por tantas outras coisas que não têm importância para o espírito e a vida. A diversidade é a glória do homem, mas a rejeitamos pelo desejo de uma uniformidade castradora e falsamente segura. Foram quinze meses em Berlim. Storkwinkel 12, Halensee, pertinho da Rathenauplatz. Foi muito bom: temeremos menos, compreenderemos mais e, se Deus for servido, amaremos mais.
Memória de livros
Aracaju, a cidade onde nós morávamos no fim da década de 40, começo da de 50, era a orgulhosa capital de Sergipe, o menor estado brasileiro (mais ou menos do tamanho da Suíça). Essa distinção, contudo, não lhe tirava o caráter de cidade pequena, provinciana e calma, à boca de um rio e a pouca distância de praias muito bonitas. Sabíamos do mundo pelo rádio, pelos cinejornais que acompanhavam todos os filmes e pelas revistas nacionais. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes, só alguns loucos andavam de avião, comprávamos galinhas vivas e verduras trazidas à nossa porta nas costas de mulas, tínhamos grandes quintais e jardins, meninos não discutiam com adultos, mulheres não usavam calças compridas nem dirigiam automóveis e vivíamos tão longe de tudo que se dizia que, quando o mundo acabasse, só íamos saber uns cinco dias depois. Mas vivíamos bem. Morávamos sempre em casarões enormes, de grandes portas, varandas e tetos altíssimos, e meu pai, que sempre gostou das últimas novidades tecnológicas, trazia para casa tudo quanto era tipo de geringonça moderna que aparecia. Fomos a primeira família da vizinhança a ter uma geladeira e recebemos visitas para examinar o impressionante armário branco que esfriava tudo. Quando surgiram os primeiros discos long play, já tínhamos a vitrola apropriada e meu pai comprava montanhas de gravações dos clássicos, que ele próprio se recusava a ouvir, mas nos obrigava a escutar e comentar. Nada, porém, era como os livros. Toda a família sempre foi obsedada por livros e às vezes ainda arma brigas ferozes por causa de livros, entre acusações mútuas de furto ou apropriação indébita. Meu avô furtava livros de meu pai, meu pai furtava livros de meu avô, eu furtava livros de meu pai e minha irmã até hoje furta livros de todos nós. A maior casa onde moramos, mais ou menos a partir da época em que aprendi a ler, tinha uma sala reservada para a biblioteca e gabinete de meu pai, mas os livros não cabiam nela — na verdade, mal cabiam na casa. E, embora os interesses básicos dele fossem Direito e História, os livros eram sobre todos os assuntos e de todos os tipos. Até mesmo ciências ocultas, assunto que fascinava meu pai e fazia com que ele às vezes se trancasse na companhia de uns desenhos esotéricos, para depois sair e dirigir olhares magnéticos aos circunstantes, só que ninguém ligava e ele desistia temporariamente. Havia uns livros sobre hipnotismo e, depois de ler um deles, hipnotizei um peru que nos tinha sido dado para um Natal e, que, como jamais ninguém lembrou de assá-lo, passou a residir no quintal e, não sei por quê, era conhecido como Lúcio. Minha mãe se impressionou, porque, assim que comecei meus passes hipnóticos, Lúcio estacou, pareceu engolir em seco e ficou paralisado, mas meu pai — talvez porque ele próprio nunca tenha conseguido hipnotizar nada, apesar de inúmeras tentativas — declarou que aquilo não tinha nada com hipnotismo, era porque Lúcio era na verdade uma perua e tinha
pensado que eu era o peru. Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação entre os livros era livre (tinha que ser, pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, inclusive na cozinha e no banheiro), de maneira que eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com um deles aberto no colo, fingindo que estava lendo e, na verdade, se não me trai a vã memória, de certa forma lendo, porque quando havia figuras, eu inventava as histórias que elas ilustravam e, ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia nelas o que inventara. Segundo a crônica familiar, meu pai interpretava aquilo como uma grande sede de saber cruelmente insatisfeita e queria que eu aprendesse a ler já aos quatros anos, sendo demovido a muito custo, por uma pedagoga amiga nossa. Mas, depois que completei seis anos, ele não aguentou, fez um discurso dizendo que eu já conhecia todas as letras e agora era só uma questão de juntá-las e, além de tudo, ele não suportava mais ter um filho analfabeto. Em seguida, mandou que eu vestisse uma roupa de sair, foi comigo a uma livraria, comprou uma cartilha, uma tabuada e um caderno e me levou à casa de D. Gilete. — D. Gilete — disse ele, apresentando-me a uma senhora de cabelos presos na nuca, óculos redondos e ar severo —, este rapaz já está um homem e ainda não sabe ler. Aplique as regras. “Aplicar as regras”, soube eu muito depois, com um susto retardado, significava, entre outras coisas, usar a palmatória para vencer qualquer manifestação de falta de empenho ou burrice por parte do aluno. Felizmente D. Gilete nunca precisou me aplicar as regras, mesmo porque eu de fato já conhecia a maior parte das letras e juntá-las me pareceu facílimo, de maneira que, quando voltei para casa nesse mesmo dia, já estava começando a poder ler. Fui a uma das estantes do corredor para selecionar um daqueles livrões com retratos de homens carrancudos e cenas de batalhas, mas meu pai apareceu subitamente à porta do gabinete, carregando uma pilha de mais de vinte livros infantis. — Esses daí agora não — disse ele. — Primeiro estes, para treinar. Estas livrarias daqui são umas porcarias, só achei estes. Mas já encomendei mais, esses daí devem durar uns dias. Duraram bem pouco, sim, porque de repente o mundo mudou e aquelas paredes cobertas de livros começaram a se tornar vivas, frequentadas por um número estonteante de maravilhas, escritas de todos os jeitos e capazes de me transportar a todos os cantos do mundo e a todos os tipos de vida possíveis. Um pouco febril às vezes, chegava a ler dois ou três livros num só dia, sem querer dormir e sem querer comer porque não me deixavam ler à mesa — e, pela primeira vez em muitas, minha mãe disse a meu pai que eu estava maluco, preocupação que até hoje volta e meia ela manifesta. — Seu filho está doido — disse ela, de noite, na varanda, sem saber que eu estava
escutando. — Ele não larga os livros. Hoje ele estava abrindo os livros daquela estante que vai cair para cheirar. — Que é que tem isso? É normal, eu também cheiro muito os livros daquela estante. São livros velhos, alguns têm um cheiro ótimo. — Ele ontem passou a tarde inteira lendo um dicionário. — Normalíssimo. Eu também leio dicionários, distrai muito. Que dicionário ele estava lendo? — O Lello. — Ah, isso é que não pode. Ele tem que ler o Laudelino Freire, que é muito melhor. Eu vou ter uma conversa com esse rapaz, ele não entende nada de dicionários. Ele está cheirando os livros certos, mas lendo o dicionário errado, precisa de orientação. Sim, tínhamos muitas conversas sobre livros. Durante toda a minha infância, havia dois tipos básicos de leitura lá em casa: a compulsória e a livre, esta última dividida em dois subtipos — a livre propriamente dita e a incerta. A compulsória variava conforme a disposição de meu pai. Havia a leitura em voz alta de poemas, trechos de peças de teatro e discursos clássicos, em que nossa dicção e entonação eram invariavelmente descritas como o pior desgosto que ele tinha na vida. Líamos Homero, Camões, Horácio, Jorge de Lima, Sófocles, Shakespeare, Euclides da Cunha, dezenas de outros. Muitas vezes não entendíamos nada do que líamos, mas gostávamos daquelas palavras sonoras, daqueles conflitos estranhos entre gente de nomes exóticos, e da expressão comovida de minha mãe, com pena de Antígona e torcendo por Heitor na Ilíada. Depois de cada leitura, meu pai fazia sua palestra de rotina sobre nossa ignorância e, andando para cima e para baixo de pijama na varanda, dava uma aula grandiloquente sobre o assunto da leitura, ou sobre o autor do texto, aula esta a que os vizinhos muitas vezes vinham assistir. Também tínhamos os resumos — escritos ou orais — das leituras, as cópias (começadas quando ele, com grande escândalo, descobriu que eu não entendia direito o ponto e vírgula e me obrigou a copiar sermões do Padre Antônio Vieira, para aprender a usar o ponto e vírgula) e os trechos a decorar. No que certamente é um mistério para os psicanalistas, até hoje não só os sermões de Vieira como muitos desses autores forçados pela goela abaixo estão entre minhas leituras favoritas. (Em compensação, continuo ruim de ponto e vírgula.) Mas o bom mesmo era a leitura livre, inclusive porque oferecia seus perigos. Meu pai usava uma técnica maquiavélica para me convencer a me interessar por certas leituras. A circulação entre os livros permanecia absolutamente livre, mas, de vez em quando, ele brandia um volume no ar e anunciava com veemência: — Este não pode! Este está proibido! Arranco as orelhas do primeiro que chegar perto
deste daqui! O problema era que não só ele deixava o livro proibido bem à vista, no mesmo lugar de onde o tirara subitamente, como às vezes a proibição era para valer. A incerteza era inevitável e então tínhamos momentos de suspense arrasador (meu pai nunca arrancou as orelhas de ninguém, mas todo mundo achava que, se fosse por uma questão de princípios, ele arrancaria), nos quais lemos Nossa vida sexual do Dr. Fritz Kahn, Romeu e ]ulieta, O livro de San Michele, Crônica escandalosa dos Doze Césares, Salambô, O crime do Padre Amaro — enfim, dezenas de títulos de uma coleção estapafúrdia, cujo único ponto em comum era o medo de passarmos o resto da vida sem orelhas — e hoje penso que li tudo o que ele queria disfarçadamente que eu lesse, embora à custa de sobressaltos e suores frios. Na área proibida, não pode deixar de ser feita uma menção aos pais de meu pai, meus avós João e Amália. João era português, leitor anticlerical de Guerra Junqueiro e não levava o filho muito a sério intelectualmente, porque os livros que meu pai escrevia eram finos e não ficavam em pé sozinhos. “Isto é merda”, dizia ele, sopesando com desdém uma das monografias jurídicas de meu pai. “Estas tripinhas que não se sustentam em pé não são livros, são uns folhetos.” Já minha avó tinha mais respeito pela produção de meu pai, mas achava que, de tanto estudar altas ciências, ele havia ficado um pouco abobalhado, não entendia nada da vida. Isto foi muito bom para a expansão dos meus horizontes culturais, porque ela não só lia como deixava que eu lesse tudo o que ele não deixava, inclusive revistas policiais oficialmente proibidas para menores. Nas férias escolares, ela ia me buscar para que eu as passasse com ela, e meu pai ficava preocupado. — D. Amália — dizia ele, tratando-a com cerimônia na esperança de que ela se imbuísse da necessidade de atendê-lo —, o menino vai com a senhora, mas sob uma condição. A senhora não vai deixar que ele fique o dia inteiro deitado, cercado de bolachinhas e docinhos e lendo essas coisas que a senhora lê. — Senhor doutor — respondia minha avó —, sou avó deste menino e tua mãe. Se te criei mal, Deus me perdoe, foi a inexperiência da juventude. Mas este cá ainda pode ser salvo e não vou deixar que tuas maluquices o infelicitem. Levo o menino sem condição nenhuma e, se insistes, digo-te muito bem o que podes fazer com tuas condições e vê lá se não me respondes, que hoje acordei com a ciática e não vejo a hora de deitar a sombrinha ao lombo de um que se atreva a chatear-me. Passar bem, Senhor doutor. E assim eu ia para a casa de minha avó Amália, onde ela comentava mais uma vez com meu avô como o filho estudara demais e ficara abestalhado para a vida, e meu avô, que queria que ela saísse para poder beber em paz a cerveja que o médico proibira, tirava um bolo de dinheiro do bolso e nos mandava comprar umas coisitas de ler — Amália tinha razão, se o
menino queria ler, que lesse, não havia mal nas leituras, havia em certos leitores. E então saíamos gloriosamente, minha avó e eu, para a maior banca de revistas da cidade, que ficava num parque perto da casa dela e cujo dono já estava acostumado àquela dupla excêntrica. Nós íamos chegando e ele perguntava: — Uma de cada? — Uma de cada — confirmava minha avó, passando a superintender, com os olhos brilhando, a colheita de um exemplar de cada revista, proibida ou não proibida, que ia formar uma montanha colorida deslumbrante, num carrinho de mão que talvez o homem tivesse comprado para atender a fregueses como nós. — Mande levar. E agora aos livros! Depois da banca, naturalmente, vinham os livros. Ela acompanhava certas coleções, histórias de “Raffles, Arsène Lupin”, Ponson du Terrail, Sir Walter Scott, Edgar Wallace, Michel Zevaco, Emilio Salgari, os Dumas e mais uma porção de outros, em edições de sobrecapas extravagantemente coloridas que me deixavam quase sem fôlego. Na livraria, ela não só se servia dos últimos lançamentos de seus favoritos, como se dirigia imperiosamente à seção de literatura para jovens e escolhia livros para mim, geralmente sem ouvir minha opinião — e foi assim que li Karl May, Edgar Rice Burroughs, Robert Louis Stevenson, Swift e tantos mais, num sofá enorme, soterrado por revistas, livros e latas de docinhos e bolachinhas, sem querer fazer mais nada, absolutamente nada, neste mundo encantado. De vez em quando, minha avó e eu mantínhamos tertúlias literárias na sala, comentando nossos vilões favoritos e nosso herói predileto, o Conde de Monte Cristo — Edmond Dantès! — como dizia ela, fremindo num gesto dramático. E meu avô, bebendo cerveja escondido lá dentro, dizia “ai, ai, esses dois se acham letrados, mas nunca leram o Guerra Junqueiro”. De volta à casa de meus pais, depois das férias, o problema das leituras compulsórias às vezes se agravava, porque meu pai, na certeza (embora nunca desse ousadia de me perguntar) de que minha avó me tinha dado para ler tudo o que ele proibia, entrava numa programação delirante, destinada a limpar os efeitos deletérios das revistas policiais. Sei que parece mentira e não me aborreço com quem não acreditar (quem conheceu meu pai acredita), mas a verdade é que, aos doze anos, eu já tinha lido, com efeitos às vezes surpreendentes, a maior parte da obra traduzida de Shakespeare, O elogio da loucura, As décadas de Tito Lívio, D. Quixote (uma das ilustrações de Gustave Doré, mostrando monstros e personagens saindo dos livros de cavalaria do fidalgo, me fez mal, porque eu passei a ver as mesmas coisas saindo dos livros da casa), adaptações especiais do Fausto e da Divina comédia, a Ilíada, a Odisseia, vários ensaios de Montaigne, Poe, Alexandre Herculano, José de Alencar, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Dickens, Dostoievski, Suetônio, os Exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola e mais não sei quantos outros clássicos, muitos deles resumidos, discutidos ou simplesmente lembrados em conversas inflamadas, dos quais nunca me esqueço
e a maior parte dos quais faz parte íntima de minha vida. Fico pensando nisso e me pergunto: não estou imaginando coisas, tudo isso poderia ter realmente acontecido? Terei tido uma infância normal? Acho que sim, também joguei bola, tomei banho nu no rio, subi em árvores e acreditei em Papai Noel. Os livros eram uma brincadeira como outra qualquer, embora certamente a melhor de todas. Quando tenho saudades da infância, as saudades são daquele universo que nunca volta, dos meus olhos de criança vendo tanto que se entonteciam, dos cheiros dos livros velhos, da navegação infinita pela palavra, de meu pai, de meus avós, do velho casarão mágico de Aracaju.
Apêndice Alemanha para principiantes Apêndice: Alemanha para principiantes O que está neste apêndice não foi pesquisado objetivamente e se baseia em minhas impressões como visitante mais ou menos assíduo da Alemanha, além de ex-morador de Berlim, onde vivi quinze meses. Não fiz pesquisa nenhuma para escrever o que se segue e meu compromisso com a verdade, o que lá seja isso, se limita à sinceridade de minhas impressões e à realidade dos acontecimentos a que me refiro. Tampouco defini método algum para estas notas, alfabético, hierárquico, temático ou qualquer outro. Fui escrevendo o que me vinha à cabeça e que acredito ser do interesse de pelo menos alguns principiantes em matéria de Alemanha. Portanto, não leve estas dicas a sério demais. São somente palpites de um compatriota que tem vivência da Alemanha e cujo olhar pode ser muito diferente do de outros. A PALAVRA BITTE — A única palavra absolutamente indispensável na Alemanha é essa. Deve ser pronunciada com o “t” bem claro e não disfarçado pelo “tch” de muitos brasileiros. Serve para tudo, embora seja costumeiramente apresentada apenas como “por favor”. Nada mais longe da verdade. Um bitte bem dado, pode quebrar o galho para “com licença”, “desculpe”, “o quê?”, “um desses para mim também” e inúmeros outros casos, levando-se em conta os gestos que podem acompanhá-lo. Quando em dúvida, diga bitte, que, numa versão desmunhecada, serve até para “audácia do bofe!” ou, numa versão romântica, “deixe-me ver como você é linda”. O uso criativo do bitte já foi suficiente para um amigo meu que não falava nada de alemão namorar com uma alemã vários meses. Imagino que ele dizia também outras coisas, mas na minha presença era somente bitte. HÁ MUITO O QUE VER — Por alguma razão que não sei analisar, os brasileiros com quem converso, mesmo os mais bem-informados, acreditam que a Alemanha é um país onde tudo é altamente moderno e modernoso e não há nada para se ver. Na realidade, a Alemanha é um país lindíssimo, desde as metrópoles e cidadezinhas ajardinadas, até uma Natureza rica e diversificada. Beleza natural é o que não falta e beleza construída pelo homem tampouco. A Alemanha tem alguns dos mais espetaculares museus do mundo. Berlim, principalmente depois da reunificação, é uma festa de museus. O Zoológico de Berlim vale pelo menos um dia de visita. Um dia não dá para ver tudo direito, mas é suficiente para embasbacar. Quem gosta de Zoológico (e há o Aquário adjacente também, um deslumbramento) pode programar o dia inteiro lá. E as cidades históricas alemãs, onde se sente a Idade Média convivendo graciosa e discretissimamente com a mais completa modernidade tecnológica? E passar só de curiosidade por uma igreja de valor arquitetônico e histórico, entrar e dar de cara com um concerto de órgão arrebatador, como aconteceu várias vezes comigo? E a catedral de Colônia,
que sozinha vale a viagem e que emociona indescritivelmente. As feirinhas nas cidades pequenas. A música tocada em parques e jardins. A alemãozada enlouquecida pelo calor e o sol do verão, todo mundo nu mergulhando na água ou praticando um esporte qualquer igualmente sem roupa — e eu posso garantir, há o que apreciar de novidade, quando se vê pela primeira vez gente nua jogando alguma coisa. Enfim, há muito para ver e, claro, com a Copa rolando, não vai dar tempo. JANTAR TARDE É COMPLICADO — Com exceção de Berlim, onde se encontra de tudo (inclusive farinha de mandioca de Feira de Santana, que eu comprava numa lojinha da rua Kant), convém jantar antes das nove horas, mesmo nas cidades grandes. Na maior parte das cidades os restaurantes passam a não servir a ninguém depois de umas nove horas, nove e meia da noite. Do contrário, ou o faminto come o travesseiro do hotel ou baixa a um hospital de emergência, alegando queda na curva glicêmica ou qualquer coisa assim. Talvez arranjem uma sopinha para ele. QUEM FALA INGLÊS NÃO QUEBRA O GALHO EM QUALQUER LUGAR — Decididamente não. A maior parte dos alemães não fala inglês e, quando fala, às vezes esconde isso. Geralmente é uma grave mancada, por exemplo, entrar numa loja falando inglês de primeira. Suspeito que a maior parte dos alemães, a não ser os que estejam precisando desesperadamente de fregueses, reagirá torcendo o nariz e dizendo que não entendeu nada. Existe o teste da vaca, que eu inventei, mas ele só pode ser usado com grande cautela. Eu fazia o teste da vaca com minha mulher. Entrávamos na loja, tentávamos inglês, eu via que a atendente estava fingindo não entender e aí eu dizia alto a minha mulher, em inglês. “É, vamos embora, porque esta vaca não entende inglês.” Geralmente ela não resistia e negava em inglês ser uma vaca. Raramente saía uma compra depois disso, mas eu ficava vingado. É sempre conveniente perguntar em alemão se a pessoa fala inglês. Assim mesmo, a resposta sai malhumorada e, invariavelmente, mesmo de um sujeito que passou a infância nos Estados Unidos e se formou em Harvard, se ouve que o inglês falado por ele ou ela é muito pouco. DUAS OU TRÊS PALAVRAS E EXPRESSÕES ÚTEIS Entschuldigung ou Verzeihung — “Desculpe”, mas pode ser bitte com cara de choro. Wie viel? — “Quanto?”, mas pode ser bitte esfregando o indicador no polegar ou contando notas invisíveis. Zahlen ou Rechnung — “A conta”, mas pode ser bitte fazendo um gesto de quem está escrevendo no ar. Toilette? — “Banheiro?”, mas, se você tiver cara de pau, pode ser bitte com as pernas trançadas ou gestos até mais explícitos.
Offen oder geschlossen? — “Aberto ou fechado?”, mas pode ser bitte com jeito de quem está querendo entrar. Wir gucken — “Estamos só olhando”, mas também pode ser bitte, com um gesto panorâmico para os objetos expostos e apontando os olhos. Telephon? — “Telefone?”, mas também pode ser bitte com gestos de quem telefona. Danke — “Obrigado”, que é respondido com bitte. Apotheke — “Farmácia” (não confundir com Drogerie, que vende produtos que não precisam de receita), que também pode ser bitte com cara de dor ou enjoo e fazendo sinal de que quer ingerir uma pílula, ou coisa assim. Apotheke pode ser facilmente lembrada pelos brasileiros, quando eles atentarem para o fato de que uma palavra antigamente usada no Brasil para designar “farmácia” tem a mesma origem. Essa palavra é “botica”. * Enfim, a despeito de sua riqueza e precisão, o essencial da língua alemã para visitantes breves está no uso adequado da palavra bitte. Toma um pouco de tempo para estudar suas delicadas nuances, mas facilita muito a comunicação. LÍNGUA — Os alemães não costumam achar muita graça em piadas sobre sua língua. Nem gostam de que a considerem muito difícil. É difícil, sim, e, como já comentava Mark Twain, as exceções à regra são muitas vezes mais numerosas que os casos em que é aplicada. A única razoável defesa que se pode fazer é quanto às palavras quilométricas que a gente acha que jamais conseguirá pronunciar. Consegue, sim, é só lembrar que, na verdade, não são propriamente palavras longas, mas aglomerados que outras línguas preferem separar. É como se, em português, a gente escrevesse “donadecasa”, “cartóriodoregistrocivil”, ou “professoradjuntodedireitotributário”. Mas a língua alemã tem suas esquisitices mesmo e não é impossível você ler uma frase cuja tradução literal seria “ele com uma medicotalentosa jovem no tempo do Kaiser laborou”, o verbo “colaborar” dividido em dois, tipo de coisa que acontece muito em alemão. De resto, há numerosos dialetos, aos quais se sobrepõe a língua franca, o chamado Alto Alemão (Hochdeutsch, que na verdade ninguém fala na intimidade, é somente a língua da imprensa e de quem se dirige ao público em geral). Eu mesmo tenho um amigo alemão que diz que se fala uma língua diferente em cada casa. Mas dizer mal da língua alemã não é uma boa ideia. PAPO DE HITLER PEGA MAL — Assim como os americanos em geral não gostam de falar, por exemplo, no assassinato do presidente Kennedy e os portugueses não gostam de falar
em Salazar, pega muito mal ficar falando em Hitler ou no nazismo, o que até irrita seriamente alguns alemães. Acaba sendo grossura e pode ser visto como agressivo até mesmo contar piadas envolvendo Hitler ou o nazismo em geral. Os alemães acham isso ainda mais sem graça do que falar mal da língua deles. A antiga divisão do país é também um assunto que pode tornar-se desagradável ou incômodo. COISAS QUE NÃO SE FAZEM — Falar alto. O barulho de uma churrascaria brasileira será inconcebível na Alemanha. Não se fala alto em público. Também não se olha para ninguém em público. Os circunstantes, mesmo apinhados num ônibus, dificilmente se fitam. Tocar nas pessoas também não é comum como aqui, embora a beijoquinha nas mulheres seja de modo geral aceita como cumprimento às vezes logo na apresentação, mas raramente. Mas nada das massagens que muitos brasileiros costumam aplicar nos outros, enquanto conversam. Não se pode também ser impontual, é considerado grossura, desconsideração e falta de educação. Quando, num ponto de ônibus, estiver escrito que o 33 passará às 17h26, pode apostar que será exatamente isso que acontecerá. Trem que se atrase ou adiante alguns segundos é quase vaiado. Por sinal, viajar de trem pela Alemanha é ótimo e barato. Os remediados e mesmo os ricos viajam na segunda classe, que é bastante confortável, tanto assim que a primeira classe é bem pouco ocupada. Deve-se temer apenas a armadilha da bagagem. O trem só para um ou dois minutinhos na estação e não há carregadores. Por isso, se alguém pretende viajar de trem, é melhor conseguir um jeito de deixar a mala grande guardada em algum depósito de bagagem pago e levar uma pequena, porque carregar a grande para cima e para baixo, ainda mais na confusão do embarque e desembarque, é um sufoco respeitável. Sujar a rua ou mesmo cuspir na calçada não só é um pepino brabo (o máximo tolerado é guimba de cigarro) como dá vergonha em quem o faz. Furar sinal de trânsito nem pensar, embora, se houver um pedestre na frente, em quaisquer circunstâncias, os carros parem sem que os motoristas reclamem. BIRITA — Há quem sustente que há basicamente dois povos alemães distintos, coabitando as mesmas almas individuais: o alemão sóbrio e o alemão cheio de cerveja. De fato, a diferença é espantosa, desde os decibéis da conversa até a expansividade. Em relação aos brasileiros, deve ser observado que a noção de “chorinho” em qualquer bebida é profundamente repulsiva ao senso de ordem alemão, que nem entende quando lhe explicam o que é e, se chega a entender, passa a considerar-nos um povo ainda mais primitivo do que ele imaginava. Se bem examinados, os copos dos restaurantes vêm com a marca da medida certa da bebida a ser servida, em mililitros. A mesma coisa as tulipas de chope (sim, alemão bebe chope misturado com limonada e faz outras coisas que se imaginaria impensáveis na pátria da cerveja). Não adianta querer apressar a tirada do chope. O bartender alemão faz a “ordenha” da chopeira devagar, esperando o líquido chegar precisamente à marca do que deve ser
servido. Aí ele providencia a cobertura correta de espuma e traz ao freguês uma tulipa de chope que podia servir de padrão para qualquer instituto de pesos e medidas. Dirigir depois de beber dá uma bela dor de cabeça ao motorista, tanto assim que o esquema do sorteio é amplamente praticado. O “sorteado” não bebe na festa, pois vai dirigir o carro que levará o grupo de volta a suas casas. Uísque é caro no varejo, mas não tão caro assim nos supermercados, onde é vendido livremente. Sair bebum e cambaleante pode dar cana. HOMENS E MULHERES — Ao contrário da opinião voluntarista de muitos brasileiros, as mulheres alemãs não são taradas e fazem qualquer negócio para desfrutar do corpo bronzeado do melhor amante do mundo, que é, como sabemos, o brasileiro. Quem quiser que tome ousadia com a alemã pelada que está tomando sol e lendo uma revista, na grama em torno do lago. É quase certo que logo participará, com um papel não muito invejável, numa performance da Polizei inesquecível, pois a Polizei não vai logo batendo, mas, se precisar, bate rijo. Pegar mulher por lá é a mesma coisa que aqui, respeitadas as características culturais, mas o lance é ser apresentado, levar para jantar, papear e ver se vai adiante, mais ou menos como aqui mesmo. Quanto aos homens, a situação é diferente, pois grande número deles é convencido, até pela propaganda oficial do Brasil, de que as brasileiras andam nuas e dão imediatamente a quem lhes pedir, sem distinção de cor, credo ou posição política. Brasileira que quiser se precatar deve manter distância de qualquer alemão cheio de chope. Se encarar, pode ter certeza de que ele mete a mão no peito só para dar início à conversa — quebrar o gelo, como se diz. Rio de Janeiro, 2006
Posfácio
Ray-Güde Mertin
Procurando o brasileiro em Berlim: João Ubaldo Ribeiro na Alemanha Posfácio: Ray-Güde Mertin, Procurando o brasileiro em Berlim: João Ubaldo Ribeiro na Alemanha Ao indagarem, no ano passado, pelo endereço de João Ubaldo Ribeiro, grande fora a decepção dos jornalistas alemães ao saberem que após a estadia de um ano em Berlim o autor não retornara a Itaparica, mas simplesmente estava residindo no Rio de Janeiro. Desde que as paisagens da Bahia tornaram-se familiares através dos romances de Jorge Amado e a palavra “sertão” já não necessita mais ser traduzida (constando até do nosso tradicional dicionário da língua alemã, o Duden, graças às numerosas traduções de romances brasileiros), mais uma paisagem literária, além de tantas outras, ficou conhecida na Alemanha: a ilha de Itaparica. Em 1988 foi publicada a tradução alemã de Viva o povo brasileiro. João Ubaldo é um dos escritores brasileiros mais lidos e conhecidos na Alemanha. Convidado diversas vezes para roteiros literários, descreveu frequentemente experiências e observações destas viagens. Há dez anos comprovara em uma carta a perspicácia e o domínio da língua alemã. Não era verdade que o país inteiro, que ele acabara de conhecer numa viagem de três semanas, estava dominado por dois grupos secretos, visíveis em toda parte, muitas vezes lado a lado? Duas “gangues”, que nunca se perdiam de vista, apresentando-se quase sempre como organizações gêmeas? Eram Eingang e Ausgang, a entrada e a saída. “Assim demonstrando que conheço a língua alemã de cabo a rabo e, se quisesse, escreveria em alemão e só não escrevo porque não quero...” (23/04/1985). E muito mais ele anotava nestas viagens preparadas com a pontualidade e minuciosidade alemãs. Trabalhadores e pontuais, tão sólidos e precisos em tudo: eis as proverbiais boas qualidades dos alemães. Seria tão bom se de vez em quando soubessem dar um jeito e pudessem se movimentar com mais jogo de cintura. Viajar a outro país, isto significa surpresas e irritações, proximidade e inacessibilidade, e a velha experiência que somente no estrangeiro é nitidamente sentida: qual é a própria nacionalidade. Não é apenas o fascínio diante do outro, mas também a surpresa de experimentar as próprias reações e sensações num contexto diferente. Um brasileiro na Alemanha, na Europa, desperta certas expectativas. Quem sabe ele vem diretamente da floresta amazônica ou refugiou-se — fugindo da violência escaladora nas
cidades grandes — no campo ou numa ilha, onde com certeza ainda existem índios que abatem sua caça com arco e flecha? Em 1988 foi publicada a tradução alemã de Viva o povo brasileiro. Mais do que qualquer outra obra da literatura brasileira nos últimos dez anos, este romance foi alvo de resenhas exotistas na imprensa de língua alemã. O título da resenha do Frankfurter Allgemeine Zeitung, “Barões malvados, formosas escravas e mulatos astutos” não se distingue em muito dos comentários de outros jornais, em que se fala de “um golpe de gênio latino-americano” apontando “esta saga lusotropicalista” sobre “guerras, imperadores, canibais”. E, com a infalível condescendência que às vezes costuma caracterizar as resenhas, o autor recebeu este comentário: “o romance preenche as expectativas em torno de uma obra latino-americana: vibrando em sensualidade, até a última gota cheia de vida exuberante”, ou este: “Ribeiro parece ter se comprometido fortemente com o canto heroico do povo simples. Ele não consegue se isentar de um romantismo social e de uma certa tendência aos clichês.” Questiona-se, então, quem não consegue se libertar de clichês — o autor ou os leitores e críticos? Quando, em abril de 1990, a família Ribeiro chegou à Alemanha, os alemães estavam absorvidos sobretudo com sua própria história, tendo acabado de comemorar a queda do muro de Berlim. João Ubaldo, com Berenice, Bento e Chica, instalam-se na extremidade norte da Kurfürstendamm, uma das avenidas mais conhecidas de Berlim, na rua Storkwinkel, número 12. Após a chegada da família Ribeiro em Berlim iniciamos uma crônica mensal do autor no Frankfurter Rundschau. O jornal passou a publicar mensalmente uma coluna de João Ubaldo no suplemento cultural do fim de semana. A redação comentou o primeiro texto da seguinte maneira: Atualmente João Ubaldo Ribeiro reside em Berlim, com sua família, como convidado do programa de artistas em residência do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico de Berlim. Nós lhe pedimos, num momento em que os alemães parecem principalmente, embora não exclusivamente, ocupados com eles mesmos, para anotar impressões, experiências, observações e reflexões, com as quais um brasileiro em Berlim e na Alemanha se vê confrontado: visões interiores de alguém de fora. Assim nasceram as crônicas, sobre nós ou sobre o próprio autor e sua família, muitas vezes sobre as relações entre os dois países e os dois povos. São anotações pessoais do cotidiano quase desprovidas de alusões aos recentes acontecimentos de 1990 e 1991. Nesse sentido e num sentido mais amplo estas crônicas são atemporais — visões interiores. Nos seus textos o autor se mostra piedoso e impiedoso, cheio de humor ou de sarcasmos, de paródia e melancolia. É assim que ele desmascara os preconceitos tão firmemente estabelecidos dos dois lados e vive, ao que muitas vezes parece, mais em Itaparica do que na própria Alemanha. A crônica, gênero tão popular no Brasil, assinada por nomes conhecidos das letras
nacionais, é desconhecida na imprensa alemã. Diferente da Espanha, de Portugal ou da América Latina, os autores alemães não costumam escrever na imprensa diária, muito menos uma crônica regular. Alguns escritores brasileiros, no entanto, já tiveram a oportunidade de publicar uma crônica no Frankfurter Rundschau. Antes de sair do Brasil João Ubaldo tinha se preparado no Rio em curso intensivo de alemão. Todos nós estávamos convencidos de que ele já estaria falando fluentemente o idioma desta terra ao desembarcar no aeroporto de Frankfurt. Um ano antes ele já havia anunciado numa carta a intenção de aprender alemão: E vamos enfrentar, no começo do próximo ano, um total imersion course de alemão no Berlitz do Rio, para chegarmos a Berlim pelo menos sabendo ler o rótulo da pasta de dentes (Zahnpaste? acertei?). Você vai ver, ainda escrevo em alemão. (Itaparica, 02/07/1989) Mas, que decepção esse curso intensivo. Os conhecimentos adquiridos não iam muito além daquelas primeiras experiências de anos atrás, que o autor adora citar quando lhe perguntam sobre os cursos de alemão que frequentou. Numa das primeiras lições do livro de alemão constava a frase altamente lógica: 1st das ein Elephant? Nein, das ist ein Fühlfederhalter. Gut, nicht wahr? (Isto é um elefante? Não, é uma caneta-tinteiro.) Após um certo tempo, não muito distante da chegada em Berlim, o autor desiste finalmente do projeto de mergulhar nos segredos da língua alemã. O seu extraordinário talento linguístico o leva a brincar com a língua e criar palavras novas, teuto-abrasileiradas. A primeira carta que chega da rua Storkwinkel não é escrita na velha “geringonça”, no computador brasileiro, mas numa máquina de escrever nova, eletrônica, com letras bonitas, impecáveis. A carta, porém, está cheia de “ä” e “ü” e “ö” em lugar das letras portuguesas, com inúmeras correções feitas à mão: Com enorme dificuldade, pois odeio máquinas de escrever, especialmente quando näo têm cedilhas e outros sinais absolutamente indispensáveis à fiel expressäo do pensamento (quem precisa de umlauts?), mando-lhe este saudoso bilhetinho (o raio da máquina também tem “y” no lugar de “z”, näo é uma máquina cristä ocidental)... (24/04/1990) Um mês mais tarde chega um texto escrito no novo computador, agora sim com til e cedilha nos lugares certos. Logo depois o autor manda as primeiras duas crônicas a serem publicadas no Frankfurter Rundschau pedindo um comentário crítico à tradutora. Pensei também num título geral, mas só pensei besteira. “Um brasileiro em Berlim” é bastante chocho, você não acha? Pensei mais asnices, “Berlim tropical”, não sei o quê... se é que, aliás, vai ser necessário um título geral. (06/06/1990) Em 1994 publica-se em Frankfurt um livro com as crônicas, justamente com este título: Ein Brasilianer in Berlin, novamente lido com grande entusiasmo por parte dos alemães. A cada mês chega mais um texto, “aí segue mais uma dessas besteirinhas que vou aqui batucando para me distrair”, escreve o autor. Enquanto as crônicas para o jornal vão surgindo no estúdio da rua Storkwinkel 12, João
Ubaldo também trabalha em outros textos, nos quais ele sempre volta a Itaparica como volta à casa dos pais e dos avós. Pedi que ele escrevesse sobre os livros favoritos — que não estavam nas estantes do apartamento de Berlim porque tiveram que ficar no Brasil. João Ubaldo resolveu escrever, então, sobre a “memória dos livros”, voltando aos muitos livros que foram parte da sua infância. O texto foi publicado no suplemento do Natal de 1990 do Frankfurter Rundschau e com certeza ensinou muito ao leitor alemão sobre a infância de um certo menino brasileiro. Aquém e além-mar muitos dos preconceitos permanecem firmemente vivos. “Se nas nossas estantes tivéssemos tantos escritores da terra dele como ele deve ter autores nossos na casa dele, a compreensão mútua seria muito maior”, dissera Ruth Radvanyi, filha da escritora e grande amiga de Jorge Amado, Anna Seghers, em setembro de 1994 em Mainz, cidade natal da autora, ao entregar o Prêmio Anna Seghers a João Ubaldo Ribeiro. Na realidade é uma experiência antiga nossa: ao recebermos os escritores da América Latina, constatamos que eles sabem muito mais sobre nós e as nossas culturas do que nós sabemos deles. Será que isto mudará num futuro próximo? Por enquanto, João Ubaldo foi à Alemanha à procura dos alemães e encontrou os índios de Berlim. Bad Homburg/Frankfurt outubro de 1995
Bem sei eu da imagem do Brasil. Falar em Brasil é evocar índios, a Amazônia e ditadores militares cobertos de medalhas do tamanho de panquecas, gritando ordens a pelotões de fuzilamento em espanhol de acentos bárbaros, nos intervalos de telefonemas nervosos para bancos suíços. O fato de um brasileiro, como eu, confessar que nunca esteve no Amazonas (viagenzinha de umas seis horas a jato, ou mais, a partir do Rio de Janeiro), que só viu dois índios em toda a vida (um dos quais deputado federal, de terno e gravata) e que fala espanhol mal, eis que sua língua nativa é o português, deixa as pessoas dos outros países muito desapontadas, achando que estão lidando com um impostor, ou com um mentiroso cínico. Também conheço a outra imagem do Brasil, a que está na cabeça dos que sonham ir um dia conquistar os trópicos, esbaldar-se sob um sol interminável, tomar drinques iguais aos arranjos de cabeça de Carmem Miranda (que, por sinal, não era brasileira de nascença), amanhecer dançando lambada já no quarto do hotel e adormecer entre mulatas estonteantes, cujos padrões de conduta fariam Messalina parecer uma irmã de caridade. Esses não perdem documentários sobre o Carnaval e as praias, salivam diante de cartazes turísticos mostrando mulheres em biquínis microscópicos e acham que, quando passarem para baixo do Equador, tudo mais virá abaixo também, inclusive calças, sutiãs, saias e o que mais constituir obstáculo para se assumir o estilo de vida do Brasil, país de costumes libertinos, ao qual não se devem levar vovós alemãs e outras senhoras respeitáveis. A primeira imagem é mais fácil para a gente. Uma vez, durante um jantar no Arizona, quando eu era estudante nos Estados Unidos, experimentei grunhir um pouco, enquanto comia com a cara quase encostada no prato — e fiz grande sucesso. É claro que então eu só tinha vinte anos e, nessa idade, fazem-se coisas que depois dos quarenta não se fazem, mas ainda é possível satisfazer as expectativas dos amigos do Primeiro Mundo. Basta um certo ar primitivo, uma risada levemente inquietante e ar de pasmo diante de novidades tecnológicas, tais como fogões elétricos, geladeiras, ou mesmo isqueiros — quase tudo que não seja de madeira ou couro serve. Villa-Lobos, o grande compositor brasileiro (ou colombiano, ou venezuelano, ou boliviano, é tudo a mesma coisa), se divertia na Europa contando como se comia gente no Brasil e eu mesmo, que já andei escrevendo umas cenas de canibalismo, creio haver, certa feita em Nuremberg, percebido nervosismo numa companheira de mesa, cada vez em que eu olhava para o braço dela e pegava o ketchup (mas resisti e não dei uma dentadinha nela). Já a segunda imagem é bem mais difícil de enfrentar. Não dar festinhas com todo mundo
nu, notadamente aqui em plagas nórdicas, é visto com compreensão, por causa do frio. Mas o resto não. Lembro uma amiga nossa que nos visitou em outra ocasião, também aqui na Europa. Quando ia pela primeira vez a um restaurante com um admirador europeu, tinha que ficar repetindo “pelo menos vamos acabar de jantar, acabe o jantar, não, aqui não!”, pois eles achavam que a masculinidade de seus respectivos países seria posta em dúvida, caso não iniciassem os trabalhos logo depois da chegada do primeiro martíni, afinal estava ali uma brasileira típica. Com dois filhos pequenos e uma certa reputação a manter, temos sido tropicais cautelosos, aqui em Berlim. Mas está ficando difícil, notadamente diante do famoso Sexy Berlin e dos graves acontecimentos na Hochmeisterplatz. Não sei bem o que é Sexy Berlin, mas outro dia pegamos nosso filho Bento assistindo a Sexy Berlin na tevê com um interesse que, para seus oito anos, talvez seja um pouco prematuro, já que Sexy Berlin se resume à apresentação de — como direi? — senhoras em situações íntimas. Bento quis saber se é assim que as senhoras aparecem à noite, aqui em Berlim, asseguramos-lhe que não, nada disso, era um episódio isolado, nada disso. Mas ele continua a ser um espectador assíduo, toda vez que não estamos vigilantes. Reagindo contra a impressão errônea que isto pode dar a ele, sobre o país amigo que ora nos hospeda, atacamos de ecologia. Não, não, ele vai passar o tempo livre num parque aqui perto, com outros meninos. E assim descobrimos a boa Hochmeisterplatz, onde nossa esperança era cansá-lo o suficiente para que ele não tivesse forças para sair da cama tarde da noite e ir ver Sexy Berlin. Ai de nós, não deu certo, porque, no primeiro dia quente que fez aqui, ele, que gosta mais de comer do que de qualquer outra coisa (ou gostava, já não sei bem), veio almoçar a pulso, perguntando a que horas ia voltar para a praça. Estranhei o interesse e ele acabou me confessando, com os olhos ainda mais arregalados do que durante o Sexy Berlin: “Pai, estava todo mundo nu, lá na Hochmeisterplatz! E também tinha duas moças se beijando na boca!” Bem, explicações, explicações, aqui ficar nu na rua não é como no Brasil, aqui é normal, lá é que é indecente, o pessoal aqui só quer tomar um solzinho e trocar uns beijinhos amistosos na frente dos outros. Mas receio que não adiantou muito, embora, de tudo isso, possamos retirar o velho truísmo de que a vida é cheia de ironias. Pois Bento, conversando comigo ontem, de homem para homem, me confessou que quer virar alemão. Aqui é muito melhor, aqui o negócio é quente, não tem uma porção de melindres e fricotes, como no Brasil. — Só uma coisa — concluiu ele, pensativo. — Não vou mais convidar vovó para visitar a gente. Aqui ela não ia poder nem ir ao parque, nem assistir à tevê, que ela não está acostumada com essa safadeza da Alemanha, não é?
A velha cidade guerreira
Fico olhando este pedaço de rio, agora tão diferente do que vi da outra vez em que estive aqui. Não é uma diferença física, exceto talvez por um detalhe ou outro, que eu não lembraria, de qualquer forma. Olho muito para o rio, detido à sua beira e recordando as histórias que me contaram daquela vez. Dentro dessa água escura e gélida, me disseram então, havia lâminas afiadas e outros aparatos diabólicos, destinados a matar quem quisesse passar para o lado de cá, nadando abaixo da superfície. Acolá, o bunker de Hitler, a poeira do muro esboroado, quepes de oficiais do Pacto de Varsóvia empilhados entre pedaços de pedra e argamassa como frutas numa feira, meninos saltando ruidosamente sobre um cordão de isolamento desmoralizado. Em outro ponto, mementos simples de alguns dos que foram assassinados na passagem, grupos de turistas, motoristas de ônibus entediados, árvores circunspectas que talvez tenham estado ali, em sua verde indiferença, antes de qualquer um de nós nascer e certamente continuarão lá, como o rio e os acontecimentos naturais, depois que todos nós morrermos. Volto à beira d’água, sofro um acesso de filosofia barata — a única de que sou capaz. Sim, não se passa duas vezes pelo mesmo rio. Colaboro com o bom Heráclito, autor deste velho pensamento, e acrescento, me sentindo meio com vontade de não estar em lugar algum, que tampouco se vê o mesmo rio duas vezes. Agora, neste sítio, os restos despedaçados de tanta História substituem, entre camelôs e japoneses sorridentes, a atmosfera espessa, quase sólida, que aqui encontrei da outra vez. O que existiu realmente existiu? Algo importa além do presente? Há realmente uma História, somos de fato herdeiros de alguma coisa, ou somos eternos construtores daquilo que a memória finge preservar, mas apenas refaz, conforme suas variadas conveniências, a cada instante que vivemos? De qualquer maneira, mesmo que eu continue aqui, com ar de bobo, Heráclito num canto da cabeça e Parmênides no outro, a História, vamos e venhamos, é ridícula. Espécie atrasada, a nossa, animais primitivos. Malgrado meu, o acesso filosófico se renova. Lembro o velho Werner Jaeger, cujo Paidea li febril, ainda adolescente, e me pergunto se efetivamente aprendemos alguma coisa. Por que tanto se matou e tanto se mata? Que se conseguiu com tudo isto que presentemente me rodeia, tudo tão grávido das tragédias de que foi testemunha e é monumento — ao mesmo tempo tão vazio e leve como o piquenique dos meninos, ali em frente? Um velho comunista amigo meu, também escritor, me deu um telefonema perplexo, quando o muro começava a desaparecer e as novas da Europa Oriental nos atropelavam a cada hora. Durante décadas, ele amargou todo tipo de perseguição, ostracismo, prisão, clandestinidade,
exílio, perdas humanas e materiais. Assim como ele, que pelo menos está vivo e sadio, milhares e milhares de outros brasileiros, milhões e milhões de outros homens e mulheres pelo mundo afora, uns à esquerda, outros à direita. A troco de quê? — me perguntava ele. A troco de quê, tanto sofrimento, tanta desilusão, tantas mortes, torturas e angústias? Que se obteve por via de tanto rancor e ódio, tantos corações amargurados, tantas famílias destruídas, tantos jovens que não tiveram tempo de viver, tanta coisa em que, se formos pensar muito, não poderemos conter a náusea e a angústia? Não soube responder-lhe, claro. E saberia menos ainda, aqui nesta velha cidade guerreira da Prússia, olhando esta água, estas cruzes, esses nomes inscritos em pedra e ferro, esse muro sinistro, esse bunker assombrado, a outra Berlim do lado oposto, que em breve não mais será a outra, como esta não será mais a mesma. Imaginava, antes de chegar aqui, que seria tomado por um sentimento de alegria, euforia mesmo, ao rever este pedaço de Berlim soprado pelos ventos da abertura, da liberdade. Mas o contrário acontece. Penso em minhas andanças pela cidade e, embora continue gostando muito dela, reconheço que não é mais tão afável e amena quanto antigamente. Os visitantes do Leste aglomerando-se, como crianças deslumbradas, nas ruas, lojas, estações e praças, parecem irritar muito os berlinenses deste lado — a vida passou, talvez, a se afigurar desarrumada, quase caótica. As pessoas, em vez de visitadas, se sentem invadidas. O outro não é mais irmão, seja por nacionalidade, seja por comum humanidade. O outro é um intruso, cuja fala, modos e fraquezas são inaceitáveis. A solidariedade, antes retórica, hoje há que ser concreta e, de novo, a distância entre as palavras e os atos se mostra bem maior do que previam o discurso abstrato e a emoção vicária. O que está acontecendo não é o que tanto se queria? Queria-se mesmo? Como tudo parecia fácil antes de o muro cair, como surgem dificuldades agora — será que a Humanidade nunca acerta? Não tenho medo dos alemães, como tantos dizem ter, até mesmo muitos alemães com quem converso. Não tenho medo da velha cidade guerreira. Mas tenho medo de gente em geral e resolvo sair deste lugar aonde vim passear, antecipando sentimentos tão diversos dos que abrigo neste instante. Vou para o ponto de ônibus, passo por um grupo de aspecto tímido, homens, mulheres e crianças carregando sacolas e falando baixo. “Polen”, resmunga uma mulher junto a mim, com um olhar antes muito raro aqui, e acrescenta qualquer coisa que não entendo, mas de que tenho certeza de que não gosto. Resolvo que estou pensando bobagens demais, entro no ônibus, retribuo o sorriso de uma velhinha de chapéu festivo e decido que, no caminho de casa, vou descer na Adenauerplatz, para dar uma espiada nos canteiros de flores, que este ano apresentam aos passantes atentos umas tulipas que só vocês vendo.
Educação financeira
Duas razões me fazem incompetente em matéria de dinheiro. A primeira vem da profissão, pois a opulência não costuma acompanhar as letras. Lembro um outro escritor, respondendo sobre se livro dá dinheiro. “Dá, sim”, disse ele. “Contanto que não se seja o escritor.” E, de fato, tenho na memória viagens com editores e escritores, aqueles na primeira classe, estes na econômica. Volta e meia, um editor aparecia para ver os escritores. Que inveja da nossa criatividade, da glória, da liberdade do artista — ah, se pudesse estar ali conosco, em vez de aguentar os chatos lá da frente, mas, sabe como é, noblesse oblige, que é que se pode fazer? E voltava entristecido para sua poltrona palacial, seu champanhe e seus menus premiados, deixando-nos com nossa glória, nossa cerveja morna, nossos sanduíches ressequidos e nossas aeromoças tão doces de trato quanto um sargento dos Fuzileiros Navais. A segunda razão é a minha condição de brasileiro. No Brasil, não há dinheiro. Há papéis coloridos e moedinhas talvez feitas de restos de panelas velhas. E isso vem de longe. Nasci quando o mil-réis foi substituído pelo cruzeiro. Cada mil-réis valia um cruzeiro. Mais tarde, inspirado pelo nouveau franc, o governo criou o cruzeiro novo, que valia mil vezes mais do que o velho. Anos depois, veio o cruzado, que valia mil vezes mais do que o cruzeiro novo e durou alguns meses. Quando se constatou que, para comprar um maço de cigarros com cruzados, o brasileiro tinha de carregar uma mala de dinheiro, criou-se o cruzado novo. Este tampouco resistiu e, agora, numa operação em que as economias de todos foram confiscadas, voltamos ao cruzeiro. Como, com todas essas reviravoltas, não havia condições de imprimir notas novas em quantidade suficiente, decidiu-se carimbar os valores novos nas notas velhas, e os brasileiros passaram a conviver com papéis coloridos cujos carimbos desmentiam o que vinha impresso. Alguns anormais, entre os quais não me incluo, sabem o valor dessas notas, mas a maioria não entende mais nada e é frequente a ocorrência de discussões surrealistas, em bares, quitandas e onde quer que se comprem pequenas coisas (para as grandes coisas não se usa mais dinheiro, usa-se um sistema de compreensão acessível somente a PhDs em Economia, que consiste basicamente em siglas abstrusas, ou então dólares, nossa verdadeira moeda). O comprador de uma penca de bananas se envolve em cálculos mirabolantes, para saber se os dez mil que lhe cobram são novos ou velhos, quantas vírgulas deve botar para lá ou para cá e o que querem dizer aquelas rodinhas de alumínio, onde está escrito “cruzados”, mas leia-se “cruzeiros”, os quais devem ser convertidos a “centavos”, que não valem nada, mas fazem parte da complexa transação. Quando eu ainda estava no Rio, os jornais noticiaram o caso de uma americana que, trocando dólares num hotel, teve uma crise de riso histérico, ao ver sacolas de matéria-prima de confete e aquelas moedinhas de peso inferior a isopor substituírem seus greenbacks.
Compreendo isso, pois os brasileiros também têm crises em situações semelhantes, só que não de riso. Nossa situação alemã é, por conseguinte, delicada. Não me refiro à ofensa inflingida sobre um amigo meu daqui de Berlim, que não compreendeu nossa hilaridade, quando manifestou preocupação sobre a possibilidade de a inflação aqui ir a mais de três por cento ao ano, quando a nossa era também de três por cento, só que ao dia. (Depois ele compreendeu e, comiserado, me ofereceu um uísque duplo.) Refiro-me à educação financeira da família. Nenhum brasileiro se abaixa para pegar uma moeda caída no chão. Meus filhos, por exemplo, só usam moedas brasileiras para escorar portas, fazer chocalhos, entupir pias e atirá-las uns nos outros. Mas agora estamos na Alemanha e aqui, embora os alemães se queixem (ha-ha-haha!), dinheiro aqui é dinheiro e a família não pode sobreviver, se continuarmos a ter moedas espalhadas pela casa de forma tão promíscua que, outro dia, fomos esvaziar o saco de aspirador e encontramos quantia suficiente para comprar um Trabant de segunda mão. A inevitável campanha educativa que encetamos foi, no começo, bem difícil. Berrar “das ist Geld, das ist Geld!” provou-se inútil, porque, mesmo traduzido, dinheiro no Brasil não quer dizer nada. Chegamos a fazer vários seminários domésticos para incutir respeito por um pfennig, mas não adiantou. Até que, Deus seja louvado, a famosa inventividade brasileira acabou por triunfar. Resolvemos dar um nome a cada moeda. Esta aqui é Frau Wein, a professora de meu filho Bento, na Hallensee Grundschule. Frau Wein é tão boazinha, você vai querer que ela fique rolando por aí? Esta aqui é o Marc, seu amigo na escola, você vai jogar o Marc pela janela? Esta aqui é nossa amiga Ute, você vai querer mesmo enfiar Ute no sabonete? Tem dado certo, se bem que fica difícil lembrar o nome de cada moeda, embora os meninos lembrem. E é difícil também porque, outro dia, quando a caixa aqui do supermercado da esquina quis facilitar o troco, me pedindo uma moeda de cinquenta pfennige, eu sem notar tirei Frau Wein do bolso e Bento protestou: “Frau Wein, não, ela é nossa!” Concordei, guardei Frau Wein escrupulosamente e a pus de volta aqui na pilha de moedas de meu estúdio, junto com a Ute, o Marc, a Michi, a Ray, o Dietz, o Bernt e tantos outros amigos alemães. Receio, contudo, que isto vá causar uma certa retração no consumo, aqui na Alemanha, já que, à medida que vamos dando nomes às moedas, torna-se mais difícil gastá-las, não se pode dispor de uma pessoa estimada de maneira tão leviana. Mas ao mesmo tempo, não estaremos contribuindo para a cultura econômica? São perguntas.
Vida organizada
As traduções são muito mais complexas do que se imagina. Não me refiro a locuções, expressões idiomáticas, palavras de gíria, flexões verbais, declinações e coisas assim. Isto dá para ser resolvido de uma maneira ou de outra, se bem que, muitas vezes, à custa de intenso sofrimento por parte do tradutor. Refiro-me à impossibilidade de encontrar equivalências entre palavras aparentemente sinônimas, unívocas e univalentes. Por exemplo, um alemão que saiba português responderá sem hesitação que a palavra portuguesa “amanhã” quer dizer “morgen”. Mas coitado do alemão que vá para o Brasil acreditando que, quando um brasileiro diz “amanhã”, está realmente querendo dizer “morgen”. Raramente está. “Amanhã” é uma palavra riquíssima e tenho certeza de que, se o Grande Duden fosse brasileiro, pelo menos um volume teria de ser dedicado a ela e outras, que partilham da mesma condição. “Amanhã” significa, entre outras coisas, “nunca”, “talvez”, “vou pensar”, “vou desaparecer”, “procure outro”, “não quero”, “no próximo ano”, “assim que eu precisar”, “um dia destes”, “vamos mudar de assunto” etc. e, em casos excepcionalíssimos, “amanhã” mesmo. Qualquer estrangeiro que tenha vivido no Brasil sabe que são necessários vários anos de treinamento para distinguir qual o sentido pretendido pelo interlocutor brasileiro, quando ele responde, com a habitual cordialidade nonchalante, que fará tal ou qual coisa amanhã. O caso dos alemães é, seguramente, o mais grave. Não disponho de estatísticas confiáveis, mas tenho certeza de que nove em cada dez alemães que procuram ajuda médica no Brasil o fazem por causa de “amanhãs” casuais que os levam, no mínimo, a um colapso nervoso, para grande espanto de seus amigos brasileiros — esses alemães são uns loucos, é o que qualquer um dirá. A culpa é um pouco dos alemães, que, vamos admitir, alimentam um número excessivo de certezas sobre esta vida incerta, número quase tão grande como a quantidade exasperante de preposições que frequentam sua língua (estou estudando “auf” e “au” no momento, e não estou entendendo nada). São o contrário dos brasileiros, a maior parte dos quais não tem a menor ideia do que estará fazendo na próxima meia hora, quanto mais amanhã. Talvez tudo se reduza a uma questão filosófica sobre a imanência do ser, o devenir, o princípio de identidade e outros assuntos dos quais fingimos entender, em coquetéis desagradáveis onde mentimos a respeito de nossas leituras e nossos tempos na Faculdade. No plano prático, contudo, a coisa fica gravíssima. Se o Brasil tivesse fronteiras com a Alemanha, não digo uma guerra, mas algumas escaramuças já teriam eclodido, com toda a certeza — e a Alemanha perderia, notadamente porque o Brasil não compareceria às batalhas nos horários previstos, confundiria terça-feira com sexta-feira, deixaria tudo para amanhã,
falsificaria a assinatura oficial no documento de rendição, receberia a Wehrmacht com batucadas nos momentos mais inadequados e estragaria tudo organizando almoços às seis horas da tarde. Falo por experiência própria. When in Rome do as the Romans do — ditado que deve ter uma versão latina muito mais chique, mas, infelizmente, não disponho aqui de meus livros de citações, para dar a impressão aos leitores de que leio Ovídio e Horácio no original. Mas, em inglês ou em latim, acho esse um pensamento de grande sabedoria e procuro segui-lo à risca, na minha atual condição de berlinense, tanto assim que, não fora minha tez trigueira e meu alemão abestalhado, ninguém me distinguiria, fosse por traje ou maneiras, dos outros berlinenses bebericando uma cervejinha ali na Adenauerplatz. Fica tudo, porém, muito difícil em certas ocasiões, como hoje mesmo. O telefone tocou, atendi, falou um alemão simpático e cerimonioso do outro lado, querendo saber se eu estaria livre para uma palestra no dia 16 de novembro, quarta-feira, às 20h30. Sei que é difícil para um alemão compreender que esse tipo de pergunta é ininteligível para um brasileiro. Como alguém pode marcar alguma coisa com tanta precisão e antecedência, esses alemães são uns loucos. Mas não quis ser indelicado e, como sempre, recorri a minha mulher. — Mulher — disse eu, depois de pedir que o telefonador esperasse um bocadinho. — Eu tenho algum compromisso para o dia 16 de novembro, quarta-feira, às 20h30? — Você está maluco? — disse ela. — Quem é que pode responder a esse tipo de pergunta? — Eu sei, mas tem um alemão aqui querendo uma resposta. — Diga a ele que você responde amanhã. — E quando ele telefonar amanhã? Ele é alemão, ele vai telefonar amanhã, ele não sabe o que quer dizer amanhã. — Ah, esses alemães são uns loucos. Você é escritor, invente uma resposta poética, diga a ele que a vida é um eterno amanhã. Achei uma ideia interessante, mas não a usei, apenas disse que ele telefonasse amanhã. Mas claro que não sei o que dizer amanhã e fui dormir preocupado, tanto assim que ainda incomodei minha mulher com uma cotovelada. Afinal, os alemães são organizados, é uma vergonha a gente não poder planejar as coisas tão bem quanto eles. Que é que eu faço? — Ora — respondeu ela, retribuindo a cotovelada —, pergunte a ele se os alemães planejaram a reunificação para agora. E, se ele for berlinense, pergunte se ele não preferia deixá-la para amanhã. — Touché — disse eu, puxando o cobertor para cobrir a cabeça e resolvendo que amanhã
pensaria no assunto.
O crime do Storkwinkel
Não sei quanto aos alemães, mas todo brasileiro tem medo da polícia. Muita gente que é furtada não procura a polícia. A principal razão é que não adianta, pois a polícia brasileira, de modo geral, não resolve nada. (Ninguém resolve nada no Brasil, pensando bem; antigamente, resolvíamos no futebol, mas nem isso mais.) A outra razão é que todo mundo tem medo da polícia e suspeita que, se for lá dar queixa, ela pode se aborrecer e, quando ela se aborrece, o melhor é estar a uma distância segura. No meu caso, há razões ainda mais fortes. Quando estudante, andei fazendo protestos e a polícia se sentia ofendida, manifestando sua mágoa por meio de cachorros, gás, cassetetes, cachações e outros meios de diálogo. Quando jornalista militante, a polícia também se chateava com comentários que considerava injustos para com o regime e me dava telefonemas preocupados, sugerindo que talvez fosse melhor para minha saúde que eu, em vez de política, escolhesse como tema a criação de galinhas, ou um campeonato de bridge. Como escritor, tampouco fiz sucesso com a polícia, se bem que hoje vivemos tempos bem mais brandos. Nos tempos não tão brandos, a crítica literária da polícia era severa e sou obrigado a confessar que prefiro a New York Times Book Review. Bem verdade que sempre estive em boa companhia. Recordo um policial que, diante de uma encenação de Antígona, repreendeu a todos com energia, mas benevolentemente. Compreendia que estivessem montando tal porcaria contra o regime, afinal eram jovens desorientados, levados ao pecado pelas ideologias malsãs e pela incúria dos mais velhos, que, em vez de cuidar de nossa educação física e moral, nos expunham àquele lixo mal-escrito. Sim, não tinham culpa os jovens, ele os perdoaria, embora, é claro, não permitisse a encenação. Mas — como é o nome desse sujeito que escreveu a peça? — ah, sim, esse tal Sófocles ele não perdoaria, esse iria em cana de qualquer jeito. Lembro que, na ocasião, fiquei meio aborrecido porque não fui preso e perdi a chance de ser companheiro de cela de Sófocles. Se essa história parece exagero, lembro que, certa feita, a polícia proibiu que o Balé Bolshoi se apresentasse na tevê brasileira, temendo nossa bolcheviquização, a cada vez que um russo fizesse ha-ha-ha-ha com uma espada entre os dentes e desse um daqueles pulos de pernas abertas. A possibilidade de que os brasileiros passassem a andar com uma espada entre os dentes, fazendo ha-ha-ha-ha e dando pulos de dez metros, era certamente alarmante. O catálogo é infindável e o fato é que eu tenho medo de polícia e costumo atravessar para o outro lado do Ku’damm, quando chego perto da delegacia aqui do bairro. Mas destino é destino e estou eu ainda mal-acordado, por volta das oito horas da manhã, aqui em Berlim, quando toca a campainha, vou abrir e quase morro de susto. Dois cavalheiros
sisudos me dizem “guten Tag”, exibem distintivos e anunciam: “Kriminalpolizei!” Só não morri por razões genéticas — na minha família não há cardíacos e morrer de velho é uma questão de honra entre nós, mas meu primeiro impulso foi correr à sacada, gritar “sou inocente”, pular e procurar asilo na embaixada do Gabão. Minha mulher, que estava atrás de mim e também é brasileira, disse “fique calmo, querido, eu vou fazer sua mala, eles aqui não batem, fique calmo”. Fiquei calmo e apenas pernas trêmulas, suor frio, gagueira, queixo batucando e outros sinais discretos traíam minha apreensão. Alguém havia me denunciado por jogar um cigarro na calçada? Teria cometido um crime ao olhar com excessivo vagar uma gordinha nua no Hallensee? Comer uma Bratwurst sem mostarda, como fiz outro dia, seria uma grave ofensa? Estaria sendo confundido com um terrorista? (Sou rotineiramente confundido com qualquer coisa, menos com alemão e brasileiro.) “Escritor!”, disse eu, no meu alemão oligofrênico. “Uso meus dedos assim!”, acrescentei, mostrando com as mãos a diferença entre acionar um gatilho e datilografar. A Polizei não pareceu divertida. Exibiu os distintivos outra vez, pediu algo que eu não entendia e, lá atrás, minha mulher não facilitava as coisas, perguntando quantas cuecas eu queria que ela pusesse na mala. Finalmente, quando eu já ia estender os pulsos para as algemas, descobri que eles falavam inglês e, graças a Deus, entendiam inglês gaguejado. Queriam a chave do sótão. Que chave do sótão, eu nem sabia que aqui havia um sótão. Mostrei todas as minhas chaves, nenhuma chave de sótão. Eles sorriram, despediram-se, foram embora. Nós, contudo, ainda não nos recuperamos, talvez nunca nos recuperemos dessa visita. Passamos a noite em claro, imaginando hipóteses horrendas, cadáveres no sótão, duas toneladas de cocaína no sótão, um vampiro no sótão, as piores coisas no sótão, nunca chegaremos nem perto do sótão durante toda a nossa estada na Alemanha. Mas, no dia seguinte, descobrimos uma carta, pregada no quadro de avisos de nosso prédio. Um vizinho queixava-se de que sua churrasqueira (Lattenroste) tinha desaparecido do sótão e pedia que a devolvessem, ou pusessem oitenta e cinco marcos em sua caixa postal, para pagá-la. Ah, então era esse o crime do Storkwinkel, o mistério da churrasqueira desaparecida! Ficamos aliviadíssimos, nunca nem vimos uma churrasqueira, aqui na Alemanha. Mas a lembrança da Kriminalpolizei ainda estava muito viva e, como se diz no Brasil, seguro morreu de velho. — Mulher — disse eu, depois de ler a carta —, acho que vou comprar uma churrasqueira e deixá-la na porta desse vizinho. — Boa ideia — disse ela. — E, por via das dúvidas, bote também oitenta e cinco marcos na caixa postal dele.
Problemas do intercâmbio cultural
Ainda não consigo crer que os alemães vão espontaneamente a leituras públicas. Não é possível que se chegue do trabalho e, em vez de fazer algo sensato, como tomar um drinque e convidar a vizinha para ouvir uns disquinhos, prefira-se uma leitura. Inconcebível para brasileiros, a não ser sob a mira de uma metralhadora. Na minha opinião, as plateias das leituras são parte de um complô. O DAAD deve ter um esquema especial para arregimentar espectadores, fazendo com que o artista se sinta importante e benquisto, com a vantagem adicional de que assim ele dispõe de anfiteatros para dizer suas bobagens e não vai dizê-las lá no escritório do DAAD. Fico imaginando os telefonemas. — Alô, Berta, como vai, é a Barbara, do DAAD. O quê? Berta, se você desligar, eu conto a seu namorado que você se inscreveu no Tutti-Frutti, eu... Tudo bem, não conto, mas você vai ter que me ajudar. Você está ocupada na sexta à noite? Ah, é? E não dá para arranjar alguém para ficar em seu lugar? Quanto pagam pelo serviço baby-sitter? Dez por hora? Eu pago quinze. Sim, Berta, eu sei que aquela noite foi meio chata, eu sei que nem todo mundo gosta de ficar em silêncio total, enquanto um artista toca um sininho a cada dez minutos e sopra um apito de cachorro, eu sei. Não, não é o que recita em basco, será que você pode me deixar falar? O que belisca? Não, esse já foi embora, pode ficar tranquila. Não, o da próxima sexta-feira é excelente, é ótima pessoa. É, vai ter leitura na língua dele, mas rápida, porque ele não sabe ler direito e o resto do tempo quem vai ler é a tradutora alemã. Claro que ele vai estar vestido e não belisca ninguém! Não, Berta, este é o brasileiro, o da vaca é outro, é o uruguaio, o uruguaio também já foi embora. E vai haver um drinque depois da leitura, uns canapés, conversa... Não, vinte marcos é um assalto, você sabe que o máximo que nós pagamos foi vinte e cinco, assim mesmo porque era o mexicano do poema-ação que no final jogava guacamole na plateia, e nós achamos que era justo contribuir para a conta da lavanderia das pessoas. Está bem, vinte, nem mais um pfennig. Berta, você precisa ter um pouco mais de patriotismo, é um momento delicado para a Alemanha, precisamos trabalhar para a nossa boa imagem, precisamos ampliar nossas relações com todos os povos do mundo, precisamos aprender outras maneiras de ver a vida, precisamos... Ele não queima a Amazônia! Você acha que a gente ia trazer para cá alguém que estivesse queimando a Amazônia? Ele não belisca! Eu sei, Berta, mas eu não tenho culpa se o mexicano beliscou você na Porta de Brandemburgo, ele já tinha falado que considerava a Porta de Brandemburgo um monumento erótico e eu já tinha avisado a você para não sair com latinos, eles acham tudo erótico e acham que as alemãs são todas taradas, é um problema cultural que você tem de levar em conta. Não, ele vai ler uns trechinhos, coisa pequenininha. Está bem, Berta, vinte e quatro marcos, é minha última oferta! Mas, por esse preço, você bem que podia me fazer um
favorzinho, é o seguinte: nós compramos doze exemplares de um livro dele... É, doze. É, eu sei, todo mundo achou isso, tanto assim que a editora dele deu uma festa e eu recebi a Comenda do Mérito da Indústria Editorial Alemã. Mas isso agora não interessa. O fato é que nós compramos esses livros e eu queria que você participasse de nossa Brigada do Autógrafo. É simples, você recebe um livro dele e um papelzinho com sugestões sobre coisas a dizer, “eu fiquei emocionadíssima quando li”, “foi o melhor livro da minha vida”, “gosto muito do décimo quarto capítulo”, coisinhas assim, você pode até improvisar, ele acredita em tudo e não se lembra de nada do que escreveu, não há dificuldade. Eu já disse que ele não belisca. É, pronto, é só isso. Você fica na leitura sem dormir, depois pega o livro dado por nós, escolhe uma frase para dizer e pede o autógrafo. Se ele não der uns quatro autógrafos, vai ser um horror, no dia seguinte ele aparece aqui chorando e dizendo que vai fugir para Bucareste e só melhora depois que eu pagar um sorvete para ele no Zoológico. Está bem, Berta, vinte e cinco marcos. É uma exploração, mas tudo bem. Então você aparece mesmo? Não vá falhar, hem? Escute, Berta, você não tinha uma tia velha que uma vez namorou um brasileiro que fugiu depois de pegar tudo o que ela tinha numa Sparkasse de Bremen e desde esse dia ela ficou maluca e fundou a Associação Bremenense de Ex-Namoradas de Brasileiros, que já reúne umas quinze velhotas? Não, não interessa que todas elas estejam em tratamento psiquiátrico, é até melhor. Será que não dava para você conseguir pelo menos umas cinco, ele adora velhotas e... Não, Berta, pare com isso, ele não vai beliscar as velhas! Está bem, trinta marcos, e não se fala mais nisso! Mas você garante umas cinco ou seis velhas, eu... Berta, não desligue! Tenho a impressão de que Berta é uma magrinha de óculos que me pediu um autógrafo na Kulturhaus olhando para o outro lado e com o braço tão estendido quanto possível, mas não estou seguro. O de que estou seguro mesmo é que as leituras e palestras não são o meio mais eficiente para estreitar os laços teuto-brasileiros. E, num experimento de certa forma pioneiro, venho tentando transferir meu trabalho cultural para a área culinária, que é muito melhor que a literária. Modéstia à parte, tenho tido alguns êxitos e poderia mesmo dizer que, em certos círculos berlinenses, já corre minha fama de mestre-cuca. Mas a vida do embaixador cultural é muito difícil e, quando eu já estava animado, sofri um duríssimo revés, que talvez — ai de mim, de Barbara e de Berta — me obrigue a voltar às leituras. Este, porém, é outro episódio desta luta inglória, do qual os poupo agora, mas com o qual os ameaço depois.
Batalhas culturais
Sim estava eu falando sobre a vida difícil que nós, embaixadores culturais, enfrentamos. Continuo convencido de que leituras, palestras e similares não são o veículo adequado para a aproximação cultural e o melhor caminho para ganhar corações e mentes é mesmo a culinária. Minha experiência berlinense, apesar de um ou dois episódios menos brilhantes e de um grande susto, confirma esta conclusão. Entretanto, por uma questão de honestidade, devo admitir que essa mesma experiência, principalmente o susto, me fez, nos últimos dias, reformular um pouco minha opinião sobre a utilidade das leituras. Agora sei, devido à argúcia de meu filho Bento (nove anos, Halensee Grundschule, Kinderdeutsch fluente, recordista da sala no consumo de qualquer coisa que possa ser engolida), que as leituras também têm seu lugar, embora não de forma convencional, como já se verá. Quando Marc entrou em cena, minha campanha culinária corria bem, entre inúmeros êxitos e um ou dois insucessos de pouca monta. Meu bacalhau à Kantstrasse foi aplaudido de pé aqui em casa, assim como o churrasco Brandemburgo, para não falar na caldeirada Unificação, robusto ragu de carnes, verduras e bananas que levou nosso amigo Bernd, não sei bem por quê, a recitar Heine emocionado. Somente em algumas raras ocasiões, a receptividade talvez não haja sido tão boa, como no caso do meat loaf à baiana, quando eu empreguei alguns condimentos na Bahia usados para dar alguma graça à papinha do bebê, mas aqui provavelmente mortíferos. (Só percebi que algo não correra muito bem depois que os convidados foram embora e minha mulher me disse que não, não era normal, aqui na Alemanha, as pessoas acabarem de comer, levantarem-se cobertas de suor, abrirem a porta da varanda e irem se abanar lá fora sem casaco a dez graus negativos, volta e meia colhendo da sacada um punhadinho de neve para enfiar na boca.) Mas, como já disse, os insucessos foram poucos e a confiança em minha política cultural lentamente se sedimentava. Em relação a Marc, contudo, não houve lentidão nenhuma, os resultados foram espetaculares desde o início. Marc, um alemãozinho sisudo e compenetrado, é colega e amigo de Bento. Identificam-se pelos interesses intelectuais comuns, tais como passar dezoito horas seguidas jogando video games, tomando suco de laranja em quantidades industriais e de vez em quando parando para gritar “Ich habe die Kraft!”. Muito educado, só se exaltando um pouco quando assume sua identidade secreta de He-Man e discute com Bento sobre qual dos dois é o verdadeiro He-Man, Marc sempre foi bem recebido. Mas era tratado da mesma forma que os outros meninos que circulam aqui em casa — talvez oitenta por cento da população infantil de Berlim, segundo meus cálculos, em certas tardes nas quais ninguém aqui consegue ouvir a própria voz ou ir ao banheiro sem se inscrever com pelo menos duas horas de antecedência.
Chegou, porém, o dia do Primeiro Almoço e foi aí que Marc se revelou especial. Bento o convidou para almoçar e ficamos preocupados, porque a comida era toda brasileira. Não era melhor providenciarmos para ele algum prato típico de Berlim? Talvez uma Pizza ou um Dönner Kebab, quem sabe um Çevapçiçi com Pommes Frites, quiçá um argentinischer Rumpsteak — enfim, uma dessas comidas tão alemãs, cujos cheiros sempre nos evocarão Berlim. Marc, muito sério e de braços cruzados, foi inspecionar o fogão. Feijão preto guisado com linguiça, arroz temperado, lombo de porco à carioca e farofa (farinha de mandioca passada na manteiga e misturada com alguns temperos — coisa em que a maioria dos alemães jamais pôs os olhos e, ao experimentar, declara que pó de serra deve ser mais saboroso). Marc fez algumas perguntas rápidas sobre que comidas eram aquelas, ouviu as respostas assentindo gravemente com a cabeça e afirmou que estava tudo muito bem, aquela comida era perfeita, o que demonstrou na prática logo a seguir, comendo de tudo e repetindo feijão com farofa duas vezes. Fiquei emocionado. Marc era agora a cabeça de ponte de minha batalha cultural. Um jovem alemão exposto tão vitalmente à cultura brasileira, ali estava um futuro amigo e amante do Brasil, minha missão cultural abria um novo e fecundo horizonte. Com orgulho paternal, passei a abrir a porta para Marc nos nossos cada vez mais frequentes almoços e responder-lhe “sim, sim, meu caro Marc”, quando ele perguntava se hoje tinha faar-rô-fah. “Esse menino é um talento”, dizia eu a minha mulher. “Precisamos dar um jeito de ele pelo menos passar umas férias no Brasil.” Tive, portanto, um susto enorme, no dia em que Bento e Marc chegaram em casa na hora do almoço, e Marc não quis almoçar. Como? Que tinha acontecido? Alguma briga, algum problema? Doença? No começo, ele não quis responder, mas depois veio para perto da mesa já posta e, com a seriedade habitual, explicou: — Minha mãe disse que eu não posso mais almoçar aqui porque eu volto para casa fedendo a alho. O mundo desmoronou. Então era assim, então não tínhamos mais o nosso Marc? Meus planos, pouco antes tão florescentes, agora iam por água abaixo? Era o que se afigurava, para tristeza geral. Até que, quando tudo parecia perdido, uma nova surpresa trouxe de volta a esperança. Dias depois do choque, os dois apareceram sorridentes e disseram que a mãe de Marc havia concordado em que ele almoçasse conosco sempre que quisesse. Mas que maravilha, como tinham conseguido tal milagre? — Foi fácil — disse Bento. — Eu disse a ela que, se ela não deixasse Marc almoçar aqui, você ia convidar ela para todas as suas leituras e mandar todos os seus livros para ela ler.
O inverno, este desconhecido
Agora que chega a primavera, creio que posso olhar para trás com orgulho e dizer que nosso inverno em Berlim foi um sucesso, contra todas as expectativas. Na ilha de Itaparica, onde eu morava no Brasil, minha fama de mentiroso deve-se muito — embora não inteiramente, pois, afinal, sou escritor e minto profissionalmente — aos invernos alemães, americanos e canadenses que testemunhei e descrevi. Uma vez, depois que contei como rios e cachoeiras ficam congelados, como se faz um buraco no gelo de um lago para pescar e como é ainda escuro às nove horas da manhã, um pescador amigo meu pôs as mãos em minha testa. — Só para ver se você não está com febre — explicou ele. — Eu lhe conheço desde menino e sei que você sempre gostou de umas invenções, mas desta vez está demais, só pode ser delírio de febre. Você acha que eu vou acreditar nessa conversa, eu sou besta? Eu posso não ter estudo como você, mas não sou besta. — Mas é verdade! O lago congela, o sujeito vai lá, serra um buraco no gelo, enfia a linha por ali e pesca. — E o peixe já sai congeladinho, escamadinho, desossadinho e empacotadinho, não sai, não? Não sai temperado também, não? Conversa, rapaz, não está vendo que não pode ser, que ninguém ia morar numa desgraça dum lugar desses? Essa conversa toda é chute, eu posso lhe provar logo que é chute. Quer ver? Por exemplo, esse negócio de ainda estar escuro às nove horas da manhã, você não disse que isso era na Alemanha? — Disse. — Pois então, pois aí que eu lhe provo. Eu posso desconhecer a Alemanha pela geografia, porque não sei onde fica, só sei que fica distante. Mas pela fama eu conheço e todo mundo sabe que alemão é o povo mais organizado do mundo, depois do suíço. Por conseguinte, nenhum alemão ia admitir essa esculhambação. Manhã é manhã, aqui, na Alemanha, em qualquer lugar. Quando o governo alemão visse que só clareava às dez horas, imediatamente baixava o decreto: de agora em diante, as seis horas da manhã passam a ser às dez. Todo mundo sabe que a hora certa de clarear é seis da manhã e não ia ser o governo alemão que ia admitir logo a Alemanha dar o mau exemplo de desorganização. — Não ia adiantar nada porque, nessa época do ano, às quatro horas da tarde já está escuro outra vez. — Como é que é? Ah, essa não! Agora é que estou vendo que o que falam de você é certo: essas suas viagens só servem para você voltar contando lorota para curtir com a cara da gente. Quer dizer que quatro horas da tarde já é noite! Essa nem aqui, nem na China, quanto mais na
Alemanha, não está vendo que não pode ser? Formada em meio a esse ceticismo, a família estava, naturalmente, desprevenida para os rigores do inverno. Senti-me na obrigação de realizar pelo menos um seminário preparatório. Comecei com informações básicas, numa conferência preliminar em que abordei diversos tópicos, tais como o que é inverno, o que é frio (com uma aula prática mais ou menos dentro da geladeira), o que é uma ceroula, por que não se pode passear no Halensee de bermudas e sem camisa em janeiro, como se explica que neve não é algodão nem tem açúcar, e assim por diante. Quando o termômetro começou a baixar, houve um certo clima de excitação e nervosismo, mas, de modo geral, enfrentamos tudo com um galhardia surpreendente. Os únicos problemas sérios que tivemos foram com o nosso aquecedor, que é meio esquisitão e, inicialmente, resolvia parar de funcionar nos momentos mais inconvenientes. Se a gente ia lá, ver o que estava acontecendo, ele reagia com barulhos alarmantes, idênticos aos que a gente ouve no cinema antes de um reator nuclear explodir, ou qualquer coisa assim. E já estávamos convencidos de que ele um dia ia explodir em vez de esquentar, quando minha mulher resolveu a questão. Numa noite particularmente enregelante, em que ele permanecia impassível enquanto nós debatíamos se não seria uma boa ideia sentarmos no fogão ligado ou nos revezarmos dormindo com o tronco enfiado no forno, minha mulher foi lá dentro e, quando voltou, os radiadores ronronavam e estalavam, o aquecedor parecia chiar de contentamento, enquanto sua chama, agora acesíssima, começava a esquentar todo o apartamento. — Eu tive um palpite — contou ela. — Aqueles barulhos que ele faz são para conversar. Ele só quer um pouco de atenção e compreensão, é um aquecedor carente. Eu falei com ele, dei uma alisadinha, e ele funcionou. Como funciona até hoje, muitíssimo bem (descobrimos que o nome dele é Manfred, tem sotaque de Stuttgart e prefere ser alisado do lado direito). E, no mais, o inverno foi todo um descobrir de maravilhas. Patinamos, andamos de trenó, fizemos bonecos de neve, trocamos impressões sobre ceroulas, deixamos panelas cheias de água do lado de fora da janela para fazer gelo, vimos fumacinha sair de nossas narinas, aprendemos o que é inverno. Só não pescamos em lagos congelados. Bem que eu pensei em pescar, mas meu filho me dissuadiu. — Eu não vou pescar no gelo porque não quero contar a meus amigos de Itaparica tudo o que eu fiz aqui na Alemanha — me disse ele. — E qual é o problema? — disse eu. — Pode contar. — Eu sei — disse ele. — Mas pescar em lago gelado, não. Já basta um com fama de mentiroso na família, não é? E, na hora de contar que minha mãe conversava com o aquecedor, quem conta é você, está bem?
Os índios de Berlim
Uma coisa eu aprendi, nesta minha temporada berlinense: só apareço outra vez na Alemanha depois de frequentar um curso sobre a Amazônia e ler pelo menos uma bibliografia básica sobre os índios brasileiros. As coisas aqui podem ficar difíceis para brasileiros como eu, que não entendem nada de Amazônia e de índios. Ao serem informados dessa minha ignorância, alguns alemães ficam tão indignados que desistem imediatamente de conversar comigo. Outros, talvez a maioria, se recusam a acreditar em algo tão inaceitável, não ouvem minhas negativas e vão em frente, num diálogo às vezes um pouco esquizofrênico. — Deve ser fascinante a Amazônia, não é? — Deve ser, sim. Certamente que é. — Compreendo o que você quer dizer. Para você, imerso na Amazônia, é difícil ter a mesma visão fascinada que um estrangeiro. Para quem está de fora, contudo... — Não é bem isso, é que eu nunca vi a Amazônia. — Você mora fora do Brasil desde criança? — Não, moro no Brasil mesmo. Mas nunca vi a Amazônia. — Meu Deus do céu, o que é que você está me dizendo, que coisa horrível! — Sim, bem... Eu... — Eu não sabia que a devastação havia chegado a esse ponto, que horror! Você não chegou a ver a Amazônia! Quando nasceu, ela já tinha sido em grande parte destruída, queimada, arrasada! Você não acha isso um terrível crime contra a Natureza, o planeta? — Sim, claro que acho. Mas não é isso, é que eu... — Você não concorda em que é preciso conter de qualquer maneira a devastação da Amazônia? — Concordo, concordo. — Eu não esperava outra atitude de sua parte. Realmente é uma coisa terrível. Helga, venha cá, escute aqui o que este amigo brasileiro está me contando sobre a Amazônia, ninguém melhor do que um brasileiro para nos mostrar a verdade sobre a Amazônia, e o que ele está me contando é de estarrecer, é muito pior do que nós pensávamos! Imagine que ele nasceu e se criou no Brasil e não chegou a ver a Amazônia! A destruição já se estendeu a tal ponto que não deu para ele ver mais nada! Conte aqui, meu caro amigo, conte aqui para a Helga o que você acaba de me contar, realmente é terrível Helga, ele me disse que... Em leituras, palestras e ocasiões semelhantes, a situação piora, porque a pressão é
coletiva. Acabo de falar, levanta-se um senhor com ar de reprovação perplexa e me diz: — Eu li aqui num jornal que o senhor disse que nunca tinha visto um índio. Isto é verdade? Zum-zum-zum na plateia. Aquilo branco na mão do rapaz de cabelo punk será um ovo prestes a ser lançado em minha direção, se eu der a resposta errada? A senhora da primeira fila estará erguendo a sombrinha? O grupo de estudantes lá atrás mexe-se para levantar-se e prorromper em estrepitosa vaia? Numa crise internacional deste porte, é necessária alguma criatividade. — Claro que não — respondo jovialmente. — Isso é mentira de jornal, jornal mente muito. Todo dia eu vejo índios. Quando eu era menino, os índios costumavam sair da selva do outro lado da rua e pulavam o muro do nosso quintal para flechar as galinhas. Ultimamente eu estava morando no Rio de Janeiro, onde há relativamente poucos índios, mas assim mesmo dá para a gente ver uns duzentos ou trezentos por dia. Alívio geral. Sorrisos, entreolhadas satisfeitas, um mar de mãos levantadas, perguntas e mais perguntas. — E eles mantêm seus costumes, lá no Rio? — Depende da tribo. Algumas estão mais ou menos assimiladas. Outras não, de forma que é bem possível você estar num ônibus e no mesmo banco sentar-se um indiozinho nu e todo pintado. — E quanto ao canibalismo? — Está praticamente em desuso, apesar de alguns grupos ecológicos que protestam contra a repressão branca a esse milenar costume índio. Mas de vez em quando a gente ouve falar que comeram alguém, geralmente um deles mesmos. — E qual é sua posição quanto ao extermínio dos índios? — Radicalmente contra, claro. Até porque isso para mim seria praticamente um suicídio. Como vocês veem claramente pelo meu tipo físico, eu tenho sangue índio. Um quarto. Minha avó paterna era da tribo Caeté, famosa por ter comido um bispo português no século XVII. Aplausos, apertos de mãos calorosos, sucesso. Tanto sucesso que acho que vou adotar o mesmo tipo de abordagem em todos os setores da vida, enquanto estiver aqui em Berlim. Acho, não, já adotei, pensando bem. Ontem mesmo minha mulher atendeu o telefone, falou um pouco e pediu à pessoa do outro lado que esperasse um pouco. — É um alemão muito simpático — disse ela —, que está produzindo uma peça de rádio sobre a Amazônia e precisa de vozes de crianças amazonenses. Aí ele soube que nós temos dois filhos pequenos e quer saber se eles podem fazer essas vozes na peça. Explico a ele que nossos meninos não são da Amazônia, nem nunca estiveram lá?
— Não — disse eu. — Pergunte quanto ele paga. E diga que, se precisar de alguém para o papel do cacique, eu faço.
Procurando o alemão
No começo, parecia fácil. Afinal, estamos na Alemanha e encontrar um alemão devia ser comuníssimo. Durante muito tempo, chegamos mesmo a achar que já conhecíamos uma porção de alemães. Mas agora não. Agora sabemos que as coisas não são tão simples assim e estou até com um certo receio de que chegue a hora de voltarmos ao Brasil sem termos sequer visto um único alemão. Comecei a descobrir isto por acaso, conversando com meu amigo Dieter, que eu pensava que era um alemão. — Que coisa — observei, enquanto bebericávamos uma cervejinha num boteco da Savigny Platz —, já faz um ano que moro na Alemanha, como o tempo passa depressa! — Sim — disse ele. — O tempo passa depressa, sim, e você acabou não conhecendo a Alemanha. — Como “não conhecendo a Alemanha”? Durante este tempo todo, eu praticamente não saí daqui. — Exatamente. Berlim não é a Alemanha. Isto aqui não tem nada a ver com a verdadeira Alemanha. — Nunca esperei ouvir isto em minha vida. Se Berlim não é Alemanha, não sei mais o que pensar, tudo o que aprendi sobre a Alemanha até hoje deve estar errado. — Então você acha que uma cidade como esta, com gente de todo o mundo, onde a maior dificuldade é achar um restaurante que não seja italiano, iugoslavo, chinês ou grego — tudo menos alemão — e o almoço de noventa por cento da população é döner kebab, onde você pode passar a vida toda sem falar uma palavra em alemão, onde todo mundo se veste de maluco e usa penteados que parecem uma maquete da Philharmonie, você acha que isto aqui é a Alemanha? — Bem, sempre achei, não é? Afinal, Berlim... — Pois está muito enganado, enganadíssimo. Berlim não é a Alemanha. A Alemanha, por exemplo, é minha terra, onde você nunca esteve. — É, talvez você tenha razão. Afinal, você é alemão e deve saber o que está dizendo. — Eu não sou alemão. — Como? Ou eu estou maluco, ou você quer me deixar maluco. Você acaba ou não acaba de dizer que nasceu numa terra verdadeiramente alemã? — Sim, mas isto não quer dizer nada, no caso. Minha terra é alemã, mas eu não me sinto alemão. Não me identifico com o espírito alemão. Acho os alemães um povo sombrio, sem
graça, fechado... Não, eu não sou alemão, me identifico muito mais com povos como o seu, gente alegre, relaxada, risonha, comunicativa... Não, eu não sou alemão. — Dieter, deixe de conversa, claro que você é alemão, nasceu na Alemanha, tem cara de alemão, sua língua é o alemão... — Minha língua não é o alemão. Eu falo alemão, mas, na verdade, minha língua-mãe é o dialeto lá de minha terra, que parece com alemão, mas não é. Mesmo depois de anos morando aqui, eu me sinto mais à vontade falando meu dialeto, é muito mais espontâneo. E, lá em casa, se eu não falar a língua de nossa terra, minha avó não entende nada. — Espere aí, você está me confundindo cada vez mais. Você disse que sua terra é alemã por excelência e agora diz que lá não se fala a língua da Alemanha. Eu não estou entendendo. — Muito simples. Isto que você chama de língua da Alemanha, é o Hochdeutsch, que não existe, é uma invenção, uma abstração. Ninguém fala Hochdeutsch, a não ser na televisão e nos cursos do Goethe Institut, é tudo mentira. O verdadeiro alemão não fala Hochdeutsch em casa, a família toda ia pensar que ele estava maluco. Nem o Governo fala Hochdeutsch, antes muito pelo contrário, basta ouvir certos discursos por aí. Está cada vez mais claro que você não conhece mesmo os alemães. Depois dessa descoberta, fizemos diversas tentativas de conhecer um alemão, mas todas, apesar de muito esforçadas, têm invariavelmente falhado. Entre nossos amigos de Berlim, não há um só alemão. Em números aproximados: quarenta por cento se acham berlinenses e consideram os alemães um povo exótico que mora longe; trinta por cento se sentem ofendidos com a pergunta, indagam se estamos querendo insinuar alguma coisa e fazem um comício contra o nacionalismo; quinze por cento são ex-Ossies que não conseguem se acostumar a não ser mais Ossies; e os restantes quinze por cento não se sentem alemães, povo sombrio, sem graça, fechado etc. etc. Como nos resta pouco tempo aqui, a situação está ficando séria. Resolvemos até investir modestamente em algumas viagens. Escolhemos Munique para começar e estávamos todos muito contentes com a perspectiva de finalmente vermos alguns alemães, quando o Dieter apareceu para uma visita e nos explicou desdenhosamente que em Munique não encontraríamos alemães, mas bávaros, uma coisa é a Alemanha, outra é a Baviera, não existem coisas mais diferentes neste mundo. Um tantinho desapontados, fomos do mesmo jeito, gostamos muito, mas voltamos com a sensação chata de que não tínhamos visto nada da Alemanha, não é fácil conseguir ver a Alemanha. Não sei bem ainda o que vou fazer para evitar a vergonha que vou passar no Brasil, ao regressar da Alemanha tendo que confessar não haver conhecido a Alemanha. Uma coisa, no entanto, é certa: vou reclamar do DAAD por falsas promessas e deixar bem claro que, da próxima vez, ou eles me trazem para a Alemanha
ou não tem conversa.
Pequenos choques (Quatro anotações de um visitante distraído)
ALEMÃES NUS — Fomos ao Halensee outra vez, ver alemães nus. Os brasileiros não acreditam em nudez sem malícia e esse espetáculo para nós é espantoso. Por que ninguém olha para ninguém? Lembro uma vez em que fui convidado para almoçar no Playboy Club de Chicago, onde bebidas e comidas eram servidas por moças de maiô cavado e decotes que não escondiam nada. Claro que a maior parte dos homens ali tinha vindo exatamente para ser servida por moças semidespidas, mas todos aparentavam a mais completa indiferença à presença delas, a ponto de meu anfitrião, que estava sentado num lugar de acesso incômodo, não ter interrompido nem um instante sua palestra sobre problemas editoriais, enquanto uma bunny lhe servia a salada com um peito praticamente enfiado em sua orelha. Nunca conversei e almocei com um peito enfiado em minha orelha, mas imagino que minha concentração ficaria um pouco perturbada. Magnífico exemplo de autodomínio americano, porque é claro que, de volta a seu escritório, ele deve ter passado o resto da tarde coçando a orelha. Mas aqui, aqui também será uma questão de autodomínio? Não sei. Olho em torno, tão discretamente quanto possível, para não destoar da atitude geral, e não sinto nem de perto a necessidade de autodomínio que pode acometer qualquer um, inclusive alemães, numa praia do Rio, onde ninguém fica realmente nu. Aliás, não sinto necessidade de autodomínio nenhum, de repente até me desinteresso em continuar olhando as duas jovens bonitinhas que fazem ginástica peladas. Não há sexo aqui, só gente nua. Por alguma razão, acho isso inquietante. Nunca pensei em testemunhar (e partilhar) uma tão assombrosa obliteração da libido. Como é que é isso? Sim, há as respostinhas de sempre, diferenças culturais, coisas assim. Mas, não sei por quê, essas respostas não me parecem convincentes, pelo menos agora, enquanto vivo a experiência. Se for problema cultural, por que eu, que não sou alemão, me sinto tão genuinamente indiferente à nudez geral quanto eles parecem sentir-se? Ou se sentem mesmo? Que coisa esquisita é esta? Estão me escondendo algo? Dou uma mirada final naquela pequena multidão pelada e decido que não venho mais ao Halensee em dia de sol, perdi o interesse pela investigação desse assunto perturbador. Quando voltar ao Rio, vou imediatamente à praia. A BANDEJINHA — Os alemães não notam. Sei disso porque já tentei conversar com diversos deles sobre o assunto e eles não compreendem o que quero dizer, não veem nada do que vejo. Em compensação, outros brasileiros notam, logo não devo estar inventando coisas.
Refiro-me a dinheiro, mais precisamente a pagamentos. O relacionamento dos alemães com dinheiro é muito diferente do nosso. Claro, dirão os mais bem-informados, na Alemanha existe dinheiro e no Brasil existem apenas uns papeluchos engraçados que mudam toda semana e que o governo insiste em dizer que é dinheiro, mas ninguém acredita. Verdade, verdade, cruel verdade, e certamente isto tem qualquer coisa a ver com o problema, mas há algo mais, porque já estive em muitos outros países onde também há dinheiro e insisto que os alemães são diferentes. No começo, a gente se assustava e eu atribuía tudo a minha aparência de contrabandista paraguaio foragido da Interpol. Mas depois percebi que o fenômeno é genérico e cheguei mesmo a inventar maneiras de me divertir com ele. Repito que isso é imperceptível para os próprios alemães, assim como um peixe deve achar que o mundo é feito de água, mas a primeira coisa que a gente nota, na hora de pagar, é que se estabelece um imediato clima de ansiedade e tensão, que só se dissipa depois que tiramos o dinheiro do bolso, pagamos e recebemos o troco, tudo rigorosissimamente contado. “São dezoito marcos e vinte e dois”, diz a mocinha do balcão, e um silêncio carregado se estabelece, enquanto os olhos dela acompanham nervosamente o desenrolar da operação. A impressão que se tem é que, se alguém der um tiro de canhão lá fora, ela só vai perguntar o que houve depois de ter certeza de que tudo foi feito corretamente. Pagamento completado, tudo certo, o ambiente se desanuvia, há sorrisos, quase suspiros de alívio — que barulho foi esse lá fora, alguém deu um tiro de canhão? Num táxi carioca, o passageiro é quem pergunta quanto foi a corrida, enquanto o motorista se queixa dos buracos no asfalto ou indaga se não é nesta rua que mora uma famosa cantora. Na Alemanha, o motorista para, desliga o taxímetro e, antes que outra palavra seja pronunciada, anuncia o custo. Não me lembro de ter perguntado, na Alemanha, o preço de qualquer coisa ou serviço. Assim que se torna evidente que vou comprar, o atendente me diz quanto devo, sem esperar que eu pergunte (e o tal clima ansioso se instaura instantaneamente). Se eu nunca tivesse ouvido falar na Alemanha e de repente me visse vivendo aqui, ia passar algum tempo achando que uma das coisas mais comuns aqui é o sujeito entrar numa loja, pedir uma coisa e sair sem pagar — daí o nervosismo que envolve os pagamentos. Finalmente, a bandejinha. Agora já sabemos que, quando Deus criou o mundo, criou a bandejinha e que sem ela a civilização é impossível, mas levamos algum tempo para nos habituarmos. A bandejinha me pegou logo nos primeiros dias de minha vida em Berlim, na tabacaria aqui da esquina. Pedi um maço de cigarros, fui imediatamente informado do preço, estendi o dinheiro para a senhora do balcão e ela não o tomou da minha mão, mas apenas me encarou em silêncio, com um ar severo e talvez um pouco impaciente. Não entendi, me atrapalhei, conferi o dinheiro — qual era o problema? Só então observei que o olhar dela ia de meu rosto para a bandejinha ao lado da registradora. Já conhecia a bandejinha de breves
estadas anteriores na Alemanha, mas havia esquecido dela. Claro, a bandejinha! Depositei o dinheiro na bandejinha, ela fez a cara satisfeita de quem havia acabado de dar uma lição, agradeceu e pôs o troco na bandejinha. Depois disso, ainda tive alguns problemas por esquecer da bandejinha, como no dia em que entreguei o dinheiro da passagem ao motorista de um ônibus e ele me disse algumas coisas que não entendi, mas que tenho certeza de que não eram para me elogiar. Agora não esqueço mais, cumpro os usos da terra e não discuto. Não sei por que os alemães não gostam de que lhes entreguem o pagamento diretamente nas mãos, não sei nem se é uma exigência do Bundesbank, mas nem esmola eu dou mais na mão, aqui em Berlim. Jogo a moeda no chapéu ou na caixinha do pedinte, não quero ser espinafrado em plena Breidscheidplatz. E, de qualquer forma, como disse antes, a bandejinha às vezes me diverte. Vingo-me todo dia do motorista de ônibus que me disse desaforos por causa da bandejinha. Conto cuidadosamente moedas, fazendo questão de incluir muitas de dez pfennige, junto o preço exato da passagem e ponho uma pilhazinha na bandeja. E — Deus há de perdoar-me — tenho um prazerzinho sádico em ver o sobressalto do motorista e o gesto ansioso com que ele espalha as moedas para contá-las e, dois segundos depois, quase despenca na cadeira, aliviado em ver que a conta está certa e que, no meio das moedas, não há nenhum zloty, ou qualquer coisa assim. Mas vou parar com isso, tenho medo de algum dia matar um de enfarte. TRÁFEGO — Para brasileiros, uma das atrações turísticas de Berlim é assistir às pessoas esperando disciplinadamente que o sinal abra, para que elas atravessem a rua. Isto é considerado uma absoluta e inédita maravilha, merecedora de horas de contemplação, comentários abismados e cartas estarrecidas para os amigos. Quanto ao tráfego de veículos, a admiração é ainda maior e, quando um berlinense se queixa do trânsito, os brasileiros pensam que ele está brincando. No Brasil, as coisas muitas vezes são exatamente o oposto do que acontece na Alemanha. Diz-se que, se dois alemães estão atravessando uma rua sem sinal e um deles se assusta com o aparecimento repentino de um carro, o primeiro fala para o segundo: “Não se assuste, que ele já nos viu.” Na mesma situação, o brasileiro diz para o outro: “Corra, que ele já nos viu.” Também se conta a história de um estrangeiro (quem sabe um alemão), num táxi em São Paulo, fechando os olhos a todo momento, porque o motorista não parava em nenhum sinal vermelho. Mas, no primeiro sinal verde encontrado, o motorista parou um instante. Espantado, o passageiro perguntou por quê. “Ah, no sinal verde tem que parar”, explicou o motorista, “porque às vezes vem um maluco dirigindo pela outra rua”. Em suma, em relação ao Brasil, a Alemanha está atrasadíssima quanto a problemas de trânsito, ninguém aqui realmente sabe o que é um problema de trânsito, são todos uns amadores principiantes. Dir-se-ia então que é mais difícil um brasileiro ser atropelado em Berlim do que um nadador olímpico se afogar numa piscina infantil. Ledo engano, conclusão precipitada. Tanto
eu quanto minha mulher, que sobrevivemos rotineiramente à travessia das ruas mais conflagradas do Rio de Janeiro, já fomos atropelados diversas vezes em Berlim. O recordista sou eu, com uns oito casos, todos sem maiores consequências, a não ser uma contusãozinha ou outra e protestos indignados por parte dos atropeladores. Sim, porque não fui atropelado por carros, ônibus ou caminhões, mas pelo mais terrível, impiedoso e ameaçador veículo que circula pelas ruas de Berlim: a bicicleta. Desenvolvi tanto medo de bicicleta que, outro dia, ao vislumbrar a distância uma horda de bicicleteiros tornada ainda mais ensandecida porque o sol nessa hora fazia uma de suas cinco aparições anuais, não resisti e me abriguei atrás de uma árvore até eles passarem, numa velocidade que certamente lhes garantiria uma boa classificação no Tour de France. Se existe algo mais sagrado do que a bandejinha, é a pista das bicicletas. As únicas ocasiões em que os passantes aqui me notaram — e em muitas delas se dirigiram a mim como se eu tivesse sido flagrado conspirando para derrubar o governo e as instituições — foi quando, por distração, parei em alguma pista de bicicleta. Ou mesmo quando paro involuntariamente, como em certos pontos onde a porta do ônibus dá exatamente em cima delas. Tem-se que ter agilidade para descer e pular imediatamente para um local seguro, porque alguma patrulha de bicicleteiros deve estar sempre a postos nesses lugares, já que uma demora de mais de dois segundos me rende uma guidãozada nas costelas, seguida de comentários desairosos a respeito de minha capacidade mental. Acho que nunca mais na vida vou poder encarar uma bicicleta sem estremecer, mas há sempre um aspecto positivo. Neste caso, pelo menos a ciência fez algum progresso, pois creio que sou o primeiro caso documentado de uma doença que pode vir a tornar-se epidêmica e para a qual sugiro o nome de Bicyclophobia berlinensis. Ainda não se conhece a cura, mas andar em ruas arborizadas ajuda a minimizar os sintomas. E a prevenir os atropelamentos, é claro. OLHAR — Isto é difícil de explicar. Toda vez que tento explicar isto a meus amigos alemães, o máximo que consigo é que façam uma cara travessa e comentem como, nos trópicos, o erotismo faz parte do ar que se respira. Pode ser, mas, por exemplo, não alimento a intenção de seduzir nenhum dos passageiros do ônibus em que viajo, para ir comprar jornais no Europa Center. Só sinto falta de olhares. Lembro dos pelados do Halensee. Lá, como neste ônibus, ninguém olha para ninguém, dá para o sujeito sentir-se invisível. Os olhares que por acaso se cruzam são logo desviados, cada qual se recolhe em seu silêncio e eu fico meio solipsista. Desço do ônibus, passa uma mulher alta e vistosa, com uma roupa colante que lhe realça as belas formas. Resolvo fazer uma observação sociológica. No Brasil, não só muitos dos homens ali presentes virariam a cabeça para apreciar a passagem dela, como alguns se entreolhariam significativamente depois que ela se fosse, ou mesmo trocariam comentários de aprovação. Parei, segui a mulher com a vista, avaliei as pessoas em torno. Ninguém se voltou. Ninguém nem olhou para ela, aliás; só eu mesmo.
No Brasil, muitas vezes me queixo de que as pessoas falam alto demais, se olham, pegam, esfregam, abraçam e beijam demais. Já aqui, sinto uma espécie de privação sensorial. Penso em Montaigne, que, se não me engano, escreveu que o casamento é como uma gaiola: o passarinho que está dentro quer sair, o que está fora quer entrar. Acho que isso pode estenderse a tudo na vida, porque hoje, particularmente, eu gostaria de ter voltado para casa com a sensação de que alguém na rua me viu, e fiquei com saudades de casa.
Despedida
O apartamento onde moramos, nesta temporada berlinense agora prestes a encerrar-se, é alugado pelo DAAD. Depois que formos embora, o Heinrich aparece aqui e ajeita as coisas para os novos ocupantes que virão. Está tudo muito certo, é isso mesmo, mas a verdade é que tenho ciúmes. Este apartamento é nosso, é a nossa casa em Berlim, conhecemos todas as suas manhas, vivemos nele instantes memoráveis, cada um de nós já tem nele seu cantinho favorito, não é possível aceitar esta separação cruel. Acho que, quando voltar a Berlim, terei mais uma vez problemas com a polícia, porque não vou resistir ao impulso de vir aqui a este endereço do Storkwinkel, bater na porta e dizer ao ocupante que saia imediatamente de minha casa. Posso não ganhar a parada, mas tenho certeza de que encontrarei algum apoio. Nosso carteiro, que coleciona selos, ficou meu amigo e gosta dos selos brasileiros que lhe dou e que daqui a pouco não vou poder dar mais. Frau Hock, nossa Eingentümerin, é amiga de meu filho. Uma velhotinha que trabalha no supermercado da esquina mantém um namoro secreto comigo — toda vez que nos vemos, trocamos piscadelas marotas. Fiquei célebre e respeitado em toda a vizinhança, por haver ganho o concurso de melhor boneco de neve do quarteirão, no inverno passado. Nossa casa é uma espécie de sucursal berlinense da Unicef, frequentada por toda a população infantil da Rathenauplatz e cercanias e fornecedora de quantidades industriais de pipocas, sanduíches, biscoitos, suquinhos e similares. E, finalmente, descobri um jeito de passar as chaves na porta que torna impossível qualquer outra pessoa abri-la (e acho que é isso que vou fazer, antes de embarcarmos; a melhor defesa é um bom ataque, não tomarão nosso apartamento sem luta). Percorro com melancolia os aposentos onde vivemos todo este tempo. Para um estranho, aquela sala de jantar não diz nada, é uma sala de jantar como outra qualquer. Mas para mim não, para mim ela é carregada de atmosfera e história, palco de cenas inesquecíveis. Lembro, por exemplo, a Batalha de Berlim, ocasião em que, com a casa cheia de hóspedes, vencemos os mais terríveis desafios. A Batalha de Berlim durou uns dez dias e começou no dia em que uma brigada de encanadores e pedreiros, rosnando em dialeto e com um humor comparável ao da Besta do Apocalipse, invadiu a casa para consertar o banheiro. No primeiro dia, destroçaram metade de uma parede, arrancaram o chuveiro e desalojaram a banheira para trazer uma nova, que depositaram nessa mesma sala, onde ela permaneceu até que eles concluíssem a demolição. Tenho vívidas recordações do olhar de nossas visitas alemãs, ao verem a banheira na sala, e vontade mais vívida ainda de haver escutado o que devem ter contado por aí, a respeito do curioso hábito brasileiro de comer tomando banho, ou usar a banheira como saladeira, ou algo assim. E me sinto herdeiro das melhores tradições heroicas de Berlim, ao recordar como, em meio a um caos de poeira, marteladas e imprecações em
português, dialeto berlinense e alemão de índio, consegui, ainda que por vezes tendo de brandir uma vassoura ou cadeira, coordenar o uso das pouquíssimas horas diárias de banheiro por dois adultos, quatro adolescentes (que consideram seu direito sagrado morar no banheiro) e duas crianças (que sempre têm que ir imediatamente ao banheiro, sob pena de sermos obrigados a comprar um tapete novo). E a cozinha, onde se desenrolaram muitos outros acontecimentos momentosos, como o dia da crise de nervos de Dona Frieda, nossa saudosa máquina de lavar, hoje aposentada e substituída por Olga, que é nova e boa, mas à qual realmente nunca nos afeiçoamos como a Dona Frieda. Dona Frieda foi acometida por convulsões durante uma centrifugação e disparou aos estertores por toda a cozinha, até que conseguimos desligá-la, após o que ela ainda emitiu uma espécie de uivo, espirrou água para todos os lados e, infelizmente, teve que ser levada embora, já inconsciente. A cozinha de tantas aventuras culinárias, do concurso de Bouletten, do aquecedor com problemas psicológicos... A varandinha de onde vimos o desfiar das estações do ano, o sofá onde sentamos à noite para conversar... Sim, toda esta casa agora é parte de nossa vida. Inclusive, é claro, este gabinete em que me habituei a escrever e transformei numa toca onde somente eu, e às vezes nem eu, sei onde estão livros, papéis, canetas e todos os entulhos habituais de minha profissão. Diabo, tenho mesmo ciúme deste gabinete. Será usurpado por outro saltimbanco das letras igual a mim, que vai mudar coisas, vai trazer seus próprios fantasmas, vai tomar de mim as duas grandes árvores que vejo pela janela e os dois passarões que nela moram — não está certo. Mas temos mesmo de ir embora, faltam poucos dias. E, como sempre, parece que foi ontem a nossa chegada, o tempo é realmente como dizem em minha terra: o dia passa devagar, o ano passa depressa. Adeus, Berlim, a nova Berlim que vi nascer, na nova Alemanha que também vi nascer. Adeus vocês, meus quatro ou cinco pacientes leitores, desculpem minha prosa modesta. Despedida é uma coisa muito chata, mas esta talvez nem tanto, porque eu sei que volto, sei que a Alemanha não vai livrar-se de mim tão facilmente, agora já temos uma certa intimidade. Não posso dizer quando, mas volto. Enquanto isso, deem uma olhadinha no meu apartamento de vez em quando e digam à velhinha do supermercado que jamais a esquecerei.
Storkwinkel 12, Rio
Voltamos altamente berlinenses. Meu filho querendo um corte de cabelo punk, minha filha mais nova falando português com sotaque alemão (até hoje não pronuncia bem os ditongos anasalados portugueses) e minha mulher e eu usando um dialeto doméstico ininteligível tanto para brasileiros quanto para alemães, a mesma coisa que ocorre com o dialeto de Berlim. A palavra strapaziert, por exemplo, que primeiro vimos na Alemanha quando tentávamos decifrar um rótulo de xampu, nos pareceu extraordinariamente expressiva. Pronunciada estrapazirte, adquiriu uso genérico para qualquer coisa ou pessoa que se apresente em frangalhos ou despencada. Nunca mais, não sei por quê, dizemos que está chovendo, só esrréguinite (es regnet). Se vamos juntos a algum lugar, vamos “com Suzana” (zusammen). E temos ainda sutoia (zu teuer), abanatúliche (aber natürlich), ichicome (ich komme), vifio (wiviel), espeta-espeta (später, später), bisduferrúquite (bist du verrückt) e muitas outras — fala-se bastante alemão aqui em casa, embora receie que não propriamente Hochdeutsch. As readaptações, de modo geral, não se revelaram muito difíceis. A do dinheiro foi a mais complicada e, pensando bem, até hoje não estamos perfeitamente reintegrados. Quando chegamos, as notas tinham mudado e falava-se em milhões para comprar pouco mais que cigarros. Periodicamente, os brasileiros fazem uma reforma monetária, que consiste em arranjar um nome novo para a moeda e cortar-lhe três zeros. Meses depois, essa nova moeda já não vale mais nada, inventa-se outro nome, cortam-se três zeros e assim sucessivamente. O resultado disso é que os jovens não sabem bem o que é dinheiro e os mais velhos, como eu, não compreendem mais nada. Frequentemente, não consigo atinar que notas na minha carteira correspondem à soma citada pelo vendedor e, como um débil mental, sou obrigado a pedir-lhe que apanhe ele mesmo o dinheiro. Creio que o nome da moeda atual é “cruzeiro real”, mas não tenho certeza, até porque, com uma inflação que está chegando aos dois por cento ao dia, os brasileiros usam dezenas de índices complicadíssimos e expressos por siglas sinistras — UFIR, UVR, TR, IGP e assim por diante, não sei o que quer dizer nenhum deles. E, não importa que índice se use, os preços sobem todos os dias. Quando expressos em cruzeiros, são assustadores e duvido que um alemão não tivesse uma crise de pânico ao lhe ser apresentada uma conta de 17.850.000,00 por um almoço, até descobrir que isso daria aí uns trinta ou quarenta marcos. As máquinas de calcular enlouqueceram (eu também, é claro) e as filas de banco são as maiores do mundo, porque quem recebe algum dinheiro precisa aplicá-lo instantaneamente, para que ele não desapareça no dia seguinte. Minha mulher ficou meio chorosa, quando tivemos de trocar os preciosos marquinhos sobrados da Alemanha, pelo papel colorido que aqui circula tão
voluvelmente. Já a readaptação ao tráfego não foi tão dura quanto esperávamos. Como talvez lhes tenha dito, todos os motoristas brasileiros, especialmente cariocas, consideram seu direito sagrado atropelar qualquer pessoa que esteja atravessando uma rua sem sinal (com sinal, alguns respeitam, mas com enorme relutância, como se estivessem sendo vítimas de uma grave injustiça social). Trata-se de uma espécie de esporte. O motorista vê o pedestre à distância, aponta o carro em sua direção e acelera. Ninguém se aborrece muito, faz parte da ordem natural das coisas. Tínhamos medo de haver perdido os reflexos, mas os bicicleteiros de Berlim, que são ainda mais temíveis que os motoristas cariocas, nos ajudaram a conservá-los (a primeira e única vez em que dei meio salto-mortal, para salvar minha vida, foi no dia em que enfrentei uns oito bicicleteiros berlinenses em sucessão, na Friedrichstrasse). Na verdade, ser uma pessoa viajada tem suas vantagens sociais. Outro dia, depois que os motoristas, aqui numa avenida do Rio, se comportaram como pilotos de Fórmula 1 na largada e uma senhora reclamou, pude retrucar, com ar superior: “Isto não é nada. A senhora devia ver os bicicleteiros de Berlim.” Saudades? Sim, as mais variadas saudades. Saudades de passear na Breidscheidplatz, perdendo dinheiro naquelas loterias de barracas e vendo os artistas de rua. Saudades da Philharmonie e do Museu da Música. O cineminha de língua inglesa, que depois fechou, no Ku’damm. A Bratwurst do Frank’s, pertinho lá de casa. Os elefantes do Zoológico. Os bonequinhos de neve, que fizemos no Natal. Minha querida Monatskarte, com a qual eu saía para onde quisesse. A velhinha do supermercado da esquina. A papelaria favorita, na Uhlandstrasse. O cheiro das padarias. As tardes de outono, com as folhas coloridas dançando em nossa sacada. Os meninos indo para a escola, tagarelando em alemão alegremente, como se nunca houvessem feito outra coisa na vida. Meu gabinete, minha mesa, minha janela, minha árvore no quintal. O boteco do Ku’damm aberto noite e dia, que anunciava garçons bêbados, café frio, Coca-Cola quente e comida ruim. E a Berlim secreta, que nunca penetrei e talvez não tenha querido penetrar, mas que pressentia em certas esquinas, praças e ruelas — eu estava em Berlim e isso certamente me mudaria para sempre. Muito tarde, brasileiro aos cinquent’anos, para tomar intimidades excessivas com Berlim. Bastava, como basta, que eu no fundo a entenda e ela no fundo me aceite. Ou seja, saudades banais, como todas as saudades mais pertinentes e persistentes. Gostaria de ser profundo. Ou chato, que muitas vezes é sinônimo de profundo. Mas não sou profundo e aspiro a não ser chato. Fico aqui pensando se valeu a pena essa temporada em Berlim. Claro que valeu, aprendemos, crescemos. Hoje, não posso ler nada sobre a Alemanha com os olhos de antes, tenho uma nova compreensão, que nenhum livro pode dar, somente a vivência. Minha segunda filha, cuja mãe descende de alemães, virou alemã depois de visitar
me em Berlim, agora mora em Göttingen. Meus dois filhos pequenos, que viveram conosco no Storkwinkel 12 e que frequentaram a Halensee Grundschule, têm um pedaço de Berlim em suas histórias. O apartamento que nos abrigou será sempre um pouco nosso, tem intimidade conosco. Há novos muros de Berlim, novas cortinas de ferro, novas barreiras, ódios velhos renovados. Os famintos e perseguidos batem à porta dos prósperos — prósperos estes muitas vezes às custas dos que exploraram tanto tempo — e as portas se fecham. O diferente é visto com desconfiança ou desprezo. O diferente é inimigo, o fanatismo substitui a razão e a fraternidade, as religiões humanistas se pervertem, o homem é cada vez mais o lobo do homem. Lobo ainda pior do que o de Hobbes, porque muitas vezes não reconhece plena humanidade no objeto de seu desprezo. E tudo isso por quê? Por causa de uma centelha de vida insignificante, frágil, efêmera e quase sempre ridícula, num planetinha pretensioso, entre pessoas e povos ainda mais pretensiosos, que julgam, temem e odeiam os outros pela língua, pela cor, pela cara, pela comida e por tantas outras coisas que não têm importância para o espírito e a vida. A diversidade é a glória do homem, mas a rejeitamos pelo desejo de uma uniformidade castradora e falsamente segura. Foram quinze meses em Berlim. Storkwinkel 12, Halensee, pertinho da Rathenauplatz. Foi muito bom: temeremos menos, compreenderemos mais e, se Deus for servido, amaremos mais.
Memória de livros
Aracaju, a cidade onde nós morávamos no fim da década de 40, começo da de 50, era a orgulhosa capital de Sergipe, o menor estado brasileiro (mais ou menos do tamanho da Suíça). Essa distinção, contudo, não lhe tirava o caráter de cidade pequena, provinciana e calma, à boca de um rio e a pouca distância de praias muito bonitas. Sabíamos do mundo pelo rádio, pelos cinejornais que acompanhavam todos os filmes e pelas revistas nacionais. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes, só alguns loucos andavam de avião, comprávamos galinhas vivas e verduras trazidas à nossa porta nas costas de mulas, tínhamos grandes quintais e jardins, meninos não discutiam com adultos, mulheres não usavam calças compridas nem dirigiam automóveis e vivíamos tão longe de tudo que se dizia que, quando o mundo acabasse, só íamos saber uns cinco dias depois. Mas vivíamos bem. Morávamos sempre em casarões enormes, de grandes portas, varandas e tetos altíssimos, e meu pai, que sempre gostou das últimas novidades tecnológicas, trazia para casa tudo quanto era tipo de geringonça moderna que aparecia. Fomos a primeira família da vizinhança a ter uma geladeira e recebemos visitas para examinar o impressionante armário branco que esfriava tudo. Quando surgiram os primeiros discos long play, já tínhamos a vitrola apropriada e meu pai comprava montanhas de gravações dos clássicos, que ele próprio se recusava a ouvir, mas nos obrigava a escutar e comentar. Nada, porém, era como os livros. Toda a família sempre foi obsedada por livros e às vezes ainda arma brigas ferozes por causa de livros, entre acusações mútuas de furto ou apropriação indébita. Meu avô furtava livros de meu pai, meu pai furtava livros de meu avô, eu furtava livros de meu pai e minha irmã até hoje furta livros de todos nós. A maior casa onde moramos, mais ou menos a partir da época em que aprendi a ler, tinha uma sala reservada para a biblioteca e gabinete de meu pai, mas os livros não cabiam nela — na verdade, mal cabiam na casa. E, embora os interesses básicos dele fossem Direito e História, os livros eram sobre todos os assuntos e de todos os tipos. Até mesmo ciências ocultas, assunto que fascinava meu pai e fazia com que ele às vezes se trancasse na companhia de uns desenhos esotéricos, para depois sair e dirigir olhares magnéticos aos circunstantes, só que ninguém ligava e ele desistia temporariamente. Havia uns livros sobre hipnotismo e, depois de ler um deles, hipnotizei um peru que nos tinha sido dado para um Natal e, que, como jamais ninguém lembrou de assá-lo, passou a residir no quintal e, não sei por quê, era conhecido como Lúcio. Minha mãe se impressionou, porque, assim que comecei meus passes hipnóticos, Lúcio estacou, pareceu engolir em seco e ficou paralisado, mas meu pai — talvez porque ele próprio nunca tenha conseguido hipnotizar nada, apesar de inúmeras tentativas — declarou que aquilo não tinha nada com hipnotismo, era porque Lúcio era na verdade uma perua e tinha
pensado que eu era o peru. Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação entre os livros era livre (tinha que ser, pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, inclusive na cozinha e no banheiro), de maneira que eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com um deles aberto no colo, fingindo que estava lendo e, na verdade, se não me trai a vã memória, de certa forma lendo, porque quando havia figuras, eu inventava as histórias que elas ilustravam e, ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia nelas o que inventara. Segundo a crônica familiar, meu pai interpretava aquilo como uma grande sede de saber cruelmente insatisfeita e queria que eu aprendesse a ler já aos quatros anos, sendo demovido a muito custo, por uma pedagoga amiga nossa. Mas, depois que completei seis anos, ele não aguentou, fez um discurso dizendo que eu já conhecia todas as letras e agora era só uma questão de juntá-las e, além de tudo, ele não suportava mais ter um filho analfabeto. Em seguida, mandou que eu vestisse uma roupa de sair, foi comigo a uma livraria, comprou uma cartilha, uma tabuada e um caderno e me levou à casa de D. Gilete. — D. Gilete — disse ele, apresentando-me a uma senhora de cabelos presos na nuca, óculos redondos e ar severo —, este rapaz já está um homem e ainda não sabe ler. Aplique as regras. “Aplicar as regras”, soube eu muito depois, com um susto retardado, significava, entre outras coisas, usar a palmatória para vencer qualquer manifestação de falta de empenho ou burrice por parte do aluno. Felizmente D. Gilete nunca precisou me aplicar as regras, mesmo porque eu de fato já conhecia a maior parte das letras e juntá-las me pareceu facílimo, de maneira que, quando voltei para casa nesse mesmo dia, já estava começando a poder ler. Fui a uma das estantes do corredor para selecionar um daqueles livrões com retratos de homens carrancudos e cenas de batalhas, mas meu pai apareceu subitamente à porta do gabinete, carregando uma pilha de mais de vinte livros infantis. — Esses daí agora não — disse ele. — Primeiro estes, para treinar. Estas livrarias daqui são umas porcarias, só achei estes. Mas já encomendei mais, esses daí devem durar uns dias. Duraram bem pouco, sim, porque de repente o mundo mudou e aquelas paredes cobertas de livros começaram a se tornar vivas, frequentadas por um número estonteante de maravilhas, escritas de todos os jeitos e capazes de me transportar a todos os cantos do mundo e a todos os tipos de vida possíveis. Um pouco febril às vezes, chegava a ler dois ou três livros num só dia, sem querer dormir e sem querer comer porque não me deixavam ler à mesa — e, pela primeira vez em muitas, minha mãe disse a meu pai que eu estava maluco, preocupação que até hoje volta e meia ela manifesta. — Seu filho está doido — disse ela, de noite, na varanda, sem saber que eu estava
escutando. — Ele não larga os livros. Hoje ele estava abrindo os livros daquela estante que vai cair para cheirar. — Que é que tem isso? É normal, eu também cheiro muito os livros daquela estante. São livros velhos, alguns têm um cheiro ótimo. — Ele ontem passou a tarde inteira lendo um dicionário. — Normalíssimo. Eu também leio dicionários, distrai muito. Que dicionário ele estava lendo? — O Lello. — Ah, isso é que não pode. Ele tem que ler o Laudelino Freire, que é muito melhor. Eu vou ter uma conversa com esse rapaz, ele não entende nada de dicionários. Ele está cheirando os livros certos, mas lendo o dicionário errado, precisa de orientação. Sim, tínhamos muitas conversas sobre livros. Durante toda a minha infância, havia dois tipos básicos de leitura lá em casa: a compulsória e a livre, esta última dividida em dois subtipos — a livre propriamente dita e a incerta. A compulsória variava conforme a disposição de meu pai. Havia a leitura em voz alta de poemas, trechos de peças de teatro e discursos clássicos, em que nossa dicção e entonação eram invariavelmente descritas como o pior desgosto que ele tinha na vida. Líamos Homero, Camões, Horácio, Jorge de Lima, Sófocles, Shakespeare, Euclides da Cunha, dezenas de outros. Muitas vezes não entendíamos nada do que líamos, mas gostávamos daquelas palavras sonoras, daqueles conflitos estranhos entre gente de nomes exóticos, e da expressão comovida de minha mãe, com pena de Antígona e torcendo por Heitor na Ilíada. Depois de cada leitura, meu pai fazia sua palestra de rotina sobre nossa ignorância e, andando para cima e para baixo de pijama na varanda, dava uma aula grandiloquente sobre o assunto da leitura, ou sobre o autor do texto, aula esta a que os vizinhos muitas vezes vinham assistir. Também tínhamos os resumos — escritos ou orais — das leituras, as cópias (começadas quando ele, com grande escândalo, descobriu que eu não entendia direito o ponto e vírgula e me obrigou a copiar sermões do Padre Antônio Vieira, para aprender a usar o ponto e vírgula) e os trechos a decorar. No que certamente é um mistério para os psicanalistas, até hoje não só os sermões de Vieira como muitos desses autores forçados pela goela abaixo estão entre minhas leituras favoritas. (Em compensação, continuo ruim de ponto e vírgula.) Mas o bom mesmo era a leitura livre, inclusive porque oferecia seus perigos. Meu pai usava uma técnica maquiavélica para me convencer a me interessar por certas leituras. A circulação entre os livros permanecia absolutamente livre, mas, de vez em quando, ele brandia um volume no ar e anunciava com veemência: — Este não pode! Este está proibido! Arranco as orelhas do primeiro que chegar perto
deste daqui! O problema era que não só ele deixava o livro proibido bem à vista, no mesmo lugar de onde o tirara subitamente, como às vezes a proibição era para valer. A incerteza era inevitável e então tínhamos momentos de suspense arrasador (meu pai nunca arrancou as orelhas de ninguém, mas todo mundo achava que, se fosse por uma questão de princípios, ele arrancaria), nos quais lemos Nossa vida sexual do Dr. Fritz Kahn, Romeu e ]ulieta, O livro de San Michele, Crônica escandalosa dos Doze Césares, Salambô, O crime do Padre Amaro — enfim, dezenas de títulos de uma coleção estapafúrdia, cujo único ponto em comum era o medo de passarmos o resto da vida sem orelhas — e hoje penso que li tudo o que ele queria disfarçadamente que eu lesse, embora à custa de sobressaltos e suores frios. Na área proibida, não pode deixar de ser feita uma menção aos pais de meu pai, meus avós João e Amália. João era português, leitor anticlerical de Guerra Junqueiro e não levava o filho muito a sério intelectualmente, porque os livros que meu pai escrevia eram finos e não ficavam em pé sozinhos. “Isto é merda”, dizia ele, sopesando com desdém uma das monografias jurídicas de meu pai. “Estas tripinhas que não se sustentam em pé não são livros, são uns folhetos.” Já minha avó tinha mais respeito pela produção de meu pai, mas achava que, de tanto estudar altas ciências, ele havia ficado um pouco abobalhado, não entendia nada da vida. Isto foi muito bom para a expansão dos meus horizontes culturais, porque ela não só lia como deixava que eu lesse tudo o que ele não deixava, inclusive revistas policiais oficialmente proibidas para menores. Nas férias escolares, ela ia me buscar para que eu as passasse com ela, e meu pai ficava preocupado. — D. Amália — dizia ele, tratando-a com cerimônia na esperança de que ela se imbuísse da necessidade de atendê-lo —, o menino vai com a senhora, mas sob uma condição. A senhora não vai deixar que ele fique o dia inteiro deitado, cercado de bolachinhas e docinhos e lendo essas coisas que a senhora lê. — Senhor doutor — respondia minha avó —, sou avó deste menino e tua mãe. Se te criei mal, Deus me perdoe, foi a inexperiência da juventude. Mas este cá ainda pode ser salvo e não vou deixar que tuas maluquices o infelicitem. Levo o menino sem condição nenhuma e, se insistes, digo-te muito bem o que podes fazer com tuas condições e vê lá se não me respondes, que hoje acordei com a ciática e não vejo a hora de deitar a sombrinha ao lombo de um que se atreva a chatear-me. Passar bem, Senhor doutor. E assim eu ia para a casa de minha avó Amália, onde ela comentava mais uma vez com meu avô como o filho estudara demais e ficara abestalhado para a vida, e meu avô, que queria que ela saísse para poder beber em paz a cerveja que o médico proibira, tirava um bolo de dinheiro do bolso e nos mandava comprar umas coisitas de ler — Amália tinha razão, se o
menino queria ler, que lesse, não havia mal nas leituras, havia em certos leitores. E então saíamos gloriosamente, minha avó e eu, para a maior banca de revistas da cidade, que ficava num parque perto da casa dela e cujo dono já estava acostumado àquela dupla excêntrica. Nós íamos chegando e ele perguntava: — Uma de cada? — Uma de cada — confirmava minha avó, passando a superintender, com os olhos brilhando, a colheita de um exemplar de cada revista, proibida ou não proibida, que ia formar uma montanha colorida deslumbrante, num carrinho de mão que talvez o homem tivesse comprado para atender a fregueses como nós. — Mande levar. E agora aos livros! Depois da banca, naturalmente, vinham os livros. Ela acompanhava certas coleções, histórias de “Raffles, Arsène Lupin”, Ponson du Terrail, Sir Walter Scott, Edgar Wallace, Michel Zevaco, Emilio Salgari, os Dumas e mais uma porção de outros, em edições de sobrecapas extravagantemente coloridas que me deixavam quase sem fôlego. Na livraria, ela não só se servia dos últimos lançamentos de seus favoritos, como se dirigia imperiosamente à seção de literatura para jovens e escolhia livros para mim, geralmente sem ouvir minha opinião — e foi assim que li Karl May, Edgar Rice Burroughs, Robert Louis Stevenson, Swift e tantos mais, num sofá enorme, soterrado por revistas, livros e latas de docinhos e bolachinhas, sem querer fazer mais nada, absolutamente nada, neste mundo encantado. De vez em quando, minha avó e eu mantínhamos tertúlias literárias na sala, comentando nossos vilões favoritos e nosso herói predileto, o Conde de Monte Cristo — Edmond Dantès! — como dizia ela, fremindo num gesto dramático. E meu avô, bebendo cerveja escondido lá dentro, dizia “ai, ai, esses dois se acham letrados, mas nunca leram o Guerra Junqueiro”. De volta à casa de meus pais, depois das férias, o problema das leituras compulsórias às vezes se agravava, porque meu pai, na certeza (embora nunca desse ousadia de me perguntar) de que minha avó me tinha dado para ler tudo o que ele proibia, entrava numa programação delirante, destinada a limpar os efeitos deletérios das revistas policiais. Sei que parece mentira e não me aborreço com quem não acreditar (quem conheceu meu pai acredita), mas a verdade é que, aos doze anos, eu já tinha lido, com efeitos às vezes surpreendentes, a maior parte da obra traduzida de Shakespeare, O elogio da loucura, As décadas de Tito Lívio, D. Quixote (uma das ilustrações de Gustave Doré, mostrando monstros e personagens saindo dos livros de cavalaria do fidalgo, me fez mal, porque eu passei a ver as mesmas coisas saindo dos livros da casa), adaptações especiais do Fausto e da Divina comédia, a Ilíada, a Odisseia, vários ensaios de Montaigne, Poe, Alexandre Herculano, José de Alencar, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Dickens, Dostoievski, Suetônio, os Exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola e mais não sei quantos outros clássicos, muitos deles resumidos, discutidos ou simplesmente lembrados em conversas inflamadas, dos quais nunca me esqueço
e a maior parte dos quais faz parte íntima de minha vida. Fico pensando nisso e me pergunto: não estou imaginando coisas, tudo isso poderia ter realmente acontecido? Terei tido uma infância normal? Acho que sim, também joguei bola, tomei banho nu no rio, subi em árvores e acreditei em Papai Noel. Os livros eram uma brincadeira como outra qualquer, embora certamente a melhor de todas. Quando tenho saudades da infância, as saudades são daquele universo que nunca volta, dos meus olhos de criança vendo tanto que se entonteciam, dos cheiros dos livros velhos, da navegação infinita pela palavra, de meu pai, de meus avós, do velho casarão mágico de Aracaju.
Apêndice Alemanha para principiantes Apêndice: Alemanha para principiantes O que está neste apêndice não foi pesquisado objetivamente e se baseia em minhas impressões como visitante mais ou menos assíduo da Alemanha, além de ex-morador de Berlim, onde vivi quinze meses. Não fiz pesquisa nenhuma para escrever o que se segue e meu compromisso com a verdade, o que lá seja isso, se limita à sinceridade de minhas impressões e à realidade dos acontecimentos a que me refiro. Tampouco defini método algum para estas notas, alfabético, hierárquico, temático ou qualquer outro. Fui escrevendo o que me vinha à cabeça e que acredito ser do interesse de pelo menos alguns principiantes em matéria de Alemanha. Portanto, não leve estas dicas a sério demais. São somente palpites de um compatriota que tem vivência da Alemanha e cujo olhar pode ser muito diferente do de outros. A PALAVRA BITTE — A única palavra absolutamente indispensável na Alemanha é essa. Deve ser pronunciada com o “t” bem claro e não disfarçado pelo “tch” de muitos brasileiros. Serve para tudo, embora seja costumeiramente apresentada apenas como “por favor”. Nada mais longe da verdade. Um bitte bem dado, pode quebrar o galho para “com licença”, “desculpe”, “o quê?”, “um desses para mim também” e inúmeros outros casos, levando-se em conta os gestos que podem acompanhá-lo. Quando em dúvida, diga bitte, que, numa versão desmunhecada, serve até para “audácia do bofe!” ou, numa versão romântica, “deixe-me ver como você é linda”. O uso criativo do bitte já foi suficiente para um amigo meu que não falava nada de alemão namorar com uma alemã vários meses. Imagino que ele dizia também outras coisas, mas na minha presença era somente bitte. HÁ MUITO O QUE VER — Por alguma razão que não sei analisar, os brasileiros com quem converso, mesmo os mais bem-informados, acreditam que a Alemanha é um país onde tudo é altamente moderno e modernoso e não há nada para se ver. Na realidade, a Alemanha é um país lindíssimo, desde as metrópoles e cidadezinhas ajardinadas, até uma Natureza rica e diversificada. Beleza natural é o que não falta e beleza construída pelo homem tampouco. A Alemanha tem alguns dos mais espetaculares museus do mundo. Berlim, principalmente depois da reunificação, é uma festa de museus. O Zoológico de Berlim vale pelo menos um dia de visita. Um dia não dá para ver tudo direito, mas é suficiente para embasbacar. Quem gosta de Zoológico (e há o Aquário adjacente também, um deslumbramento) pode programar o dia inteiro lá. E as cidades históricas alemãs, onde se sente a Idade Média convivendo graciosa e discretissimamente com a mais completa modernidade tecnológica? E passar só de curiosidade por uma igreja de valor arquitetônico e histórico, entrar e dar de cara com um concerto de órgão arrebatador, como aconteceu várias vezes comigo? E a catedral de Colônia,
que sozinha vale a viagem e que emociona indescritivelmente. As feirinhas nas cidades pequenas. A música tocada em parques e jardins. A alemãozada enlouquecida pelo calor e o sol do verão, todo mundo nu mergulhando na água ou praticando um esporte qualquer igualmente sem roupa — e eu posso garantir, há o que apreciar de novidade, quando se vê pela primeira vez gente nua jogando alguma coisa. Enfim, há muito para ver e, claro, com a Copa rolando, não vai dar tempo. JANTAR TARDE É COMPLICADO — Com exceção de Berlim, onde se encontra de tudo (inclusive farinha de mandioca de Feira de Santana, que eu comprava numa lojinha da rua Kant), convém jantar antes das nove horas, mesmo nas cidades grandes. Na maior parte das cidades os restaurantes passam a não servir a ninguém depois de umas nove horas, nove e meia da noite. Do contrário, ou o faminto come o travesseiro do hotel ou baixa a um hospital de emergência, alegando queda na curva glicêmica ou qualquer coisa assim. Talvez arranjem uma sopinha para ele. QUEM FALA INGLÊS NÃO QUEBRA O GALHO EM QUALQUER LUGAR — Decididamente não. A maior parte dos alemães não fala inglês e, quando fala, às vezes esconde isso. Geralmente é uma grave mancada, por exemplo, entrar numa loja falando inglês de primeira. Suspeito que a maior parte dos alemães, a não ser os que estejam precisando desesperadamente de fregueses, reagirá torcendo o nariz e dizendo que não entendeu nada. Existe o teste da vaca, que eu inventei, mas ele só pode ser usado com grande cautela. Eu fazia o teste da vaca com minha mulher. Entrávamos na loja, tentávamos inglês, eu via que a atendente estava fingindo não entender e aí eu dizia alto a minha mulher, em inglês. “É, vamos embora, porque esta vaca não entende inglês.” Geralmente ela não resistia e negava em inglês ser uma vaca. Raramente saía uma compra depois disso, mas eu ficava vingado. É sempre conveniente perguntar em alemão se a pessoa fala inglês. Assim mesmo, a resposta sai malhumorada e, invariavelmente, mesmo de um sujeito que passou a infância nos Estados Unidos e se formou em Harvard, se ouve que o inglês falado por ele ou ela é muito pouco. DUAS OU TRÊS PALAVRAS E EXPRESSÕES ÚTEIS Entschuldigung ou Verzeihung — “Desculpe”, mas pode ser bitte com cara de choro. Wie viel? — “Quanto?”, mas pode ser bitte esfregando o indicador no polegar ou contando notas invisíveis. Zahlen ou Rechnung — “A conta”, mas pode ser bitte fazendo um gesto de quem está escrevendo no ar. Toilette? — “Banheiro?”, mas, se você tiver cara de pau, pode ser bitte com as pernas trançadas ou gestos até mais explícitos.
Offen oder geschlossen? — “Aberto ou fechado?”, mas pode ser bitte com jeito de quem está querendo entrar. Wir gucken — “Estamos só olhando”, mas também pode ser bitte, com um gesto panorâmico para os objetos expostos e apontando os olhos. Telephon? — “Telefone?”, mas também pode ser bitte com gestos de quem telefona. Danke — “Obrigado”, que é respondido com bitte. Apotheke — “Farmácia” (não confundir com Drogerie, que vende produtos que não precisam de receita), que também pode ser bitte com cara de dor ou enjoo e fazendo sinal de que quer ingerir uma pílula, ou coisa assim. Apotheke pode ser facilmente lembrada pelos brasileiros, quando eles atentarem para o fato de que uma palavra antigamente usada no Brasil para designar “farmácia” tem a mesma origem. Essa palavra é “botica”. * Enfim, a despeito de sua riqueza e precisão, o essencial da língua alemã para visitantes breves está no uso adequado da palavra bitte. Toma um pouco de tempo para estudar suas delicadas nuances, mas facilita muito a comunicação. LÍNGUA — Os alemães não costumam achar muita graça em piadas sobre sua língua. Nem gostam de que a considerem muito difícil. É difícil, sim, e, como já comentava Mark Twain, as exceções à regra são muitas vezes mais numerosas que os casos em que é aplicada. A única razoável defesa que se pode fazer é quanto às palavras quilométricas que a gente acha que jamais conseguirá pronunciar. Consegue, sim, é só lembrar que, na verdade, não são propriamente palavras longas, mas aglomerados que outras línguas preferem separar. É como se, em português, a gente escrevesse “donadecasa”, “cartóriodoregistrocivil”, ou “professoradjuntodedireitotributário”. Mas a língua alemã tem suas esquisitices mesmo e não é impossível você ler uma frase cuja tradução literal seria “ele com uma medicotalentosa jovem no tempo do Kaiser laborou”, o verbo “colaborar” dividido em dois, tipo de coisa que acontece muito em alemão. De resto, há numerosos dialetos, aos quais se sobrepõe a língua franca, o chamado Alto Alemão (Hochdeutsch, que na verdade ninguém fala na intimidade, é somente a língua da imprensa e de quem se dirige ao público em geral). Eu mesmo tenho um amigo alemão que diz que se fala uma língua diferente em cada casa. Mas dizer mal da língua alemã não é uma boa ideia. PAPO DE HITLER PEGA MAL — Assim como os americanos em geral não gostam de falar, por exemplo, no assassinato do presidente Kennedy e os portugueses não gostam de falar
em Salazar, pega muito mal ficar falando em Hitler ou no nazismo, o que até irrita seriamente alguns alemães. Acaba sendo grossura e pode ser visto como agressivo até mesmo contar piadas envolvendo Hitler ou o nazismo em geral. Os alemães acham isso ainda mais sem graça do que falar mal da língua deles. A antiga divisão do país é também um assunto que pode tornar-se desagradável ou incômodo. COISAS QUE NÃO SE FAZEM — Falar alto. O barulho de uma churrascaria brasileira será inconcebível na Alemanha. Não se fala alto em público. Também não se olha para ninguém em público. Os circunstantes, mesmo apinhados num ônibus, dificilmente se fitam. Tocar nas pessoas também não é comum como aqui, embora a beijoquinha nas mulheres seja de modo geral aceita como cumprimento às vezes logo na apresentação, mas raramente. Mas nada das massagens que muitos brasileiros costumam aplicar nos outros, enquanto conversam. Não se pode também ser impontual, é considerado grossura, desconsideração e falta de educação. Quando, num ponto de ônibus, estiver escrito que o 33 passará às 17h26, pode apostar que será exatamente isso que acontecerá. Trem que se atrase ou adiante alguns segundos é quase vaiado. Por sinal, viajar de trem pela Alemanha é ótimo e barato. Os remediados e mesmo os ricos viajam na segunda classe, que é bastante confortável, tanto assim que a primeira classe é bem pouco ocupada. Deve-se temer apenas a armadilha da bagagem. O trem só para um ou dois minutinhos na estação e não há carregadores. Por isso, se alguém pretende viajar de trem, é melhor conseguir um jeito de deixar a mala grande guardada em algum depósito de bagagem pago e levar uma pequena, porque carregar a grande para cima e para baixo, ainda mais na confusão do embarque e desembarque, é um sufoco respeitável. Sujar a rua ou mesmo cuspir na calçada não só é um pepino brabo (o máximo tolerado é guimba de cigarro) como dá vergonha em quem o faz. Furar sinal de trânsito nem pensar, embora, se houver um pedestre na frente, em quaisquer circunstâncias, os carros parem sem que os motoristas reclamem. BIRITA — Há quem sustente que há basicamente dois povos alemães distintos, coabitando as mesmas almas individuais: o alemão sóbrio e o alemão cheio de cerveja. De fato, a diferença é espantosa, desde os decibéis da conversa até a expansividade. Em relação aos brasileiros, deve ser observado que a noção de “chorinho” em qualquer bebida é profundamente repulsiva ao senso de ordem alemão, que nem entende quando lhe explicam o que é e, se chega a entender, passa a considerar-nos um povo ainda mais primitivo do que ele imaginava. Se bem examinados, os copos dos restaurantes vêm com a marca da medida certa da bebida a ser servida, em mililitros. A mesma coisa as tulipas de chope (sim, alemão bebe chope misturado com limonada e faz outras coisas que se imaginaria impensáveis na pátria da cerveja). Não adianta querer apressar a tirada do chope. O bartender alemão faz a “ordenha” da chopeira devagar, esperando o líquido chegar precisamente à marca do que deve ser
servido. Aí ele providencia a cobertura correta de espuma e traz ao freguês uma tulipa de chope que podia servir de padrão para qualquer instituto de pesos e medidas. Dirigir depois de beber dá uma bela dor de cabeça ao motorista, tanto assim que o esquema do sorteio é amplamente praticado. O “sorteado” não bebe na festa, pois vai dirigir o carro que levará o grupo de volta a suas casas. Uísque é caro no varejo, mas não tão caro assim nos supermercados, onde é vendido livremente. Sair bebum e cambaleante pode dar cana. HOMENS E MULHERES — Ao contrário da opinião voluntarista de muitos brasileiros, as mulheres alemãs não são taradas e fazem qualquer negócio para desfrutar do corpo bronzeado do melhor amante do mundo, que é, como sabemos, o brasileiro. Quem quiser que tome ousadia com a alemã pelada que está tomando sol e lendo uma revista, na grama em torno do lago. É quase certo que logo participará, com um papel não muito invejável, numa performance da Polizei inesquecível, pois a Polizei não vai logo batendo, mas, se precisar, bate rijo. Pegar mulher por lá é a mesma coisa que aqui, respeitadas as características culturais, mas o lance é ser apresentado, levar para jantar, papear e ver se vai adiante, mais ou menos como aqui mesmo. Quanto aos homens, a situação é diferente, pois grande número deles é convencido, até pela propaganda oficial do Brasil, de que as brasileiras andam nuas e dão imediatamente a quem lhes pedir, sem distinção de cor, credo ou posição política. Brasileira que quiser se precatar deve manter distância de qualquer alemão cheio de chope. Se encarar, pode ter certeza de que ele mete a mão no peito só para dar início à conversa — quebrar o gelo, como se diz. Rio de Janeiro, 2006
Posfácio
Ray-Güde Mertin
Procurando o brasileiro em Berlim: João Ubaldo Ribeiro na Alemanha Posfácio: Ray-Güde Mertin, Procurando o brasileiro em Berlim: João Ubaldo Ribeiro na Alemanha Ao indagarem, no ano passado, pelo endereço de João Ubaldo Ribeiro, grande fora a decepção dos jornalistas alemães ao saberem que após a estadia de um ano em Berlim o autor não retornara a Itaparica, mas simplesmente estava residindo no Rio de Janeiro. Desde que as paisagens da Bahia tornaram-se familiares através dos romances de Jorge Amado e a palavra “sertão” já não necessita mais ser traduzida (constando até do nosso tradicional dicionário da língua alemã, o Duden, graças às numerosas traduções de romances brasileiros), mais uma paisagem literária, além de tantas outras, ficou conhecida na Alemanha: a ilha de Itaparica. Em 1988 foi publicada a tradução alemã de Viva o povo brasileiro. João Ubaldo é um dos escritores brasileiros mais lidos e conhecidos na Alemanha. Convidado diversas vezes para roteiros literários, descreveu frequentemente experiências e observações destas viagens. Há dez anos comprovara em uma carta a perspicácia e o domínio da língua alemã. Não era verdade que o país inteiro, que ele acabara de conhecer numa viagem de três semanas, estava dominado por dois grupos secretos, visíveis em toda parte, muitas vezes lado a lado? Duas “gangues”, que nunca se perdiam de vista, apresentando-se quase sempre como organizações gêmeas? Eram Eingang e Ausgang, a entrada e a saída. “Assim demonstrando que conheço a língua alemã de cabo a rabo e, se quisesse, escreveria em alemão e só não escrevo porque não quero...” (23/04/1985). E muito mais ele anotava nestas viagens preparadas com a pontualidade e minuciosidade alemãs. Trabalhadores e pontuais, tão sólidos e precisos em tudo: eis as proverbiais boas qualidades dos alemães. Seria tão bom se de vez em quando soubessem dar um jeito e pudessem se movimentar com mais jogo de cintura. Viajar a outro país, isto significa surpresas e irritações, proximidade e inacessibilidade, e a velha experiência que somente no estrangeiro é nitidamente sentida: qual é a própria nacionalidade. Não é apenas o fascínio diante do outro, mas também a surpresa de experimentar as próprias reações e sensações num contexto diferente. Um brasileiro na Alemanha, na Europa, desperta certas expectativas. Quem sabe ele vem diretamente da floresta amazônica ou refugiou-se — fugindo da violência escaladora nas
cidades grandes — no campo ou numa ilha, onde com certeza ainda existem índios que abatem sua caça com arco e flecha? Em 1988 foi publicada a tradução alemã de Viva o povo brasileiro. Mais do que qualquer outra obra da literatura brasileira nos últimos dez anos, este romance foi alvo de resenhas exotistas na imprensa de língua alemã. O título da resenha do Frankfurter Allgemeine Zeitung, “Barões malvados, formosas escravas e mulatos astutos” não se distingue em muito dos comentários de outros jornais, em que se fala de “um golpe de gênio latino-americano” apontando “esta saga lusotropicalista” sobre “guerras, imperadores, canibais”. E, com a infalível condescendência que às vezes costuma caracterizar as resenhas, o autor recebeu este comentário: “o romance preenche as expectativas em torno de uma obra latino-americana: vibrando em sensualidade, até a última gota cheia de vida exuberante”, ou este: “Ribeiro parece ter se comprometido fortemente com o canto heroico do povo simples. Ele não consegue se isentar de um romantismo social e de uma certa tendência aos clichês.” Questiona-se, então, quem não consegue se libertar de clichês — o autor ou os leitores e críticos? Quando, em abril de 1990, a família Ribeiro chegou à Alemanha, os alemães estavam absorvidos sobretudo com sua própria história, tendo acabado de comemorar a queda do muro de Berlim. João Ubaldo, com Berenice, Bento e Chica, instalam-se na extremidade norte da Kurfürstendamm, uma das avenidas mais conhecidas de Berlim, na rua Storkwinkel, número 12. Após a chegada da família Ribeiro em Berlim iniciamos uma crônica mensal do autor no Frankfurter Rundschau. O jornal passou a publicar mensalmente uma coluna de João Ubaldo no suplemento cultural do fim de semana. A redação comentou o primeiro texto da seguinte maneira: Atualmente João Ubaldo Ribeiro reside em Berlim, com sua família, como convidado do programa de artistas em residência do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico de Berlim. Nós lhe pedimos, num momento em que os alemães parecem principalmente, embora não exclusivamente, ocupados com eles mesmos, para anotar impressões, experiências, observações e reflexões, com as quais um brasileiro em Berlim e na Alemanha se vê confrontado: visões interiores de alguém de fora. Assim nasceram as crônicas, sobre nós ou sobre o próprio autor e sua família, muitas vezes sobre as relações entre os dois países e os dois povos. São anotações pessoais do cotidiano quase desprovidas de alusões aos recentes acontecimentos de 1990 e 1991. Nesse sentido e num sentido mais amplo estas crônicas são atemporais — visões interiores. Nos seus textos o autor se mostra piedoso e impiedoso, cheio de humor ou de sarcasmos, de paródia e melancolia. É assim que ele desmascara os preconceitos tão firmemente estabelecidos dos dois lados e vive, ao que muitas vezes parece, mais em Itaparica do que na própria Alemanha. A crônica, gênero tão popular no Brasil, assinada por nomes conhecidos das letras
nacionais, é desconhecida na imprensa alemã. Diferente da Espanha, de Portugal ou da América Latina, os autores alemães não costumam escrever na imprensa diária, muito menos uma crônica regular. Alguns escritores brasileiros, no entanto, já tiveram a oportunidade de publicar uma crônica no Frankfurter Rundschau. Antes de sair do Brasil João Ubaldo tinha se preparado no Rio em curso intensivo de alemão. Todos nós estávamos convencidos de que ele já estaria falando fluentemente o idioma desta terra ao desembarcar no aeroporto de Frankfurt. Um ano antes ele já havia anunciado numa carta a intenção de aprender alemão: E vamos enfrentar, no começo do próximo ano, um total imersion course de alemão no Berlitz do Rio, para chegarmos a Berlim pelo menos sabendo ler o rótulo da pasta de dentes (Zahnpaste? acertei?). Você vai ver, ainda escrevo em alemão. (Itaparica, 02/07/1989) Mas, que decepção esse curso intensivo. Os conhecimentos adquiridos não iam muito além daquelas primeiras experiências de anos atrás, que o autor adora citar quando lhe perguntam sobre os cursos de alemão que frequentou. Numa das primeiras lições do livro de alemão constava a frase altamente lógica: 1st das ein Elephant? Nein, das ist ein Fühlfederhalter. Gut, nicht wahr? (Isto é um elefante? Não, é uma caneta-tinteiro.) Após um certo tempo, não muito distante da chegada em Berlim, o autor desiste finalmente do projeto de mergulhar nos segredos da língua alemã. O seu extraordinário talento linguístico o leva a brincar com a língua e criar palavras novas, teuto-abrasileiradas. A primeira carta que chega da rua Storkwinkel não é escrita na velha “geringonça”, no computador brasileiro, mas numa máquina de escrever nova, eletrônica, com letras bonitas, impecáveis. A carta, porém, está cheia de “ä” e “ü” e “ö” em lugar das letras portuguesas, com inúmeras correções feitas à mão: Com enorme dificuldade, pois odeio máquinas de escrever, especialmente quando näo têm cedilhas e outros sinais absolutamente indispensáveis à fiel expressäo do pensamento (quem precisa de umlauts?), mando-lhe este saudoso bilhetinho (o raio da máquina também tem “y” no lugar de “z”, näo é uma máquina cristä ocidental)... (24/04/1990) Um mês mais tarde chega um texto escrito no novo computador, agora sim com til e cedilha nos lugares certos. Logo depois o autor manda as primeiras duas crônicas a serem publicadas no Frankfurter Rundschau pedindo um comentário crítico à tradutora. Pensei também num título geral, mas só pensei besteira. “Um brasileiro em Berlim” é bastante chocho, você não acha? Pensei mais asnices, “Berlim tropical”, não sei o quê... se é que, aliás, vai ser necessário um título geral. (06/06/1990) Em 1994 publica-se em Frankfurt um livro com as crônicas, justamente com este título: Ein Brasilianer in Berlin, novamente lido com grande entusiasmo por parte dos alemães. A cada mês chega mais um texto, “aí segue mais uma dessas besteirinhas que vou aqui batucando para me distrair”, escreve o autor. Enquanto as crônicas para o jornal vão surgindo no estúdio da rua Storkwinkel 12, João
Ubaldo também trabalha em outros textos, nos quais ele sempre volta a Itaparica como volta à casa dos pais e dos avós. Pedi que ele escrevesse sobre os livros favoritos — que não estavam nas estantes do apartamento de Berlim porque tiveram que ficar no Brasil. João Ubaldo resolveu escrever, então, sobre a “memória dos livros”, voltando aos muitos livros que foram parte da sua infância. O texto foi publicado no suplemento do Natal de 1990 do Frankfurter Rundschau e com certeza ensinou muito ao leitor alemão sobre a infância de um certo menino brasileiro. Aquém e além-mar muitos dos preconceitos permanecem firmemente vivos. “Se nas nossas estantes tivéssemos tantos escritores da terra dele como ele deve ter autores nossos na casa dele, a compreensão mútua seria muito maior”, dissera Ruth Radvanyi, filha da escritora e grande amiga de Jorge Amado, Anna Seghers, em setembro de 1994 em Mainz, cidade natal da autora, ao entregar o Prêmio Anna Seghers a João Ubaldo Ribeiro. Na realidade é uma experiência antiga nossa: ao recebermos os escritores da América Latina, constatamos que eles sabem muito mais sobre nós e as nossas culturas do que nós sabemos deles. Será que isto mudará num futuro próximo? Por enquanto, João Ubaldo foi à Alemanha à procura dos alemães e encontrou os índios de Berlim. Bad Homburg/Frankfurt outubro de 1995
[1] Deutscher Akademische Austauschdienst — Entidade alemã que convida artistas para passar temporadas em Berlim. (N. do A.)
João Ubaldo Ribeiro
O melhor da literatura para todos os gostos e idades



















