



Biblio VT




Na primeira parte de Um Lugar ao Sol, completa-se a ruína da família Albuquerque, outrora poderosos guerreiros e latifundiários do interior gaúcho, que Érico VerÍssimo vinha descrevendo desde o romance anterior, Música ao Longe. Arrastado pela decadência financeira, o antigo patriarca João de Deus Albuquerque termina assassinado na sarjeta de Jacarecanga a mando dos políticos do dia. Clarissa e Vasco abandonam a cidade e, fugindo desse ambiente de violência e morte, partem em busca do seu futuro incerto na Porto Alegre de 1936. Alguém encontrará nestes elementos que deflagram a ação do livro traços autobiográficos de Érico Veríssimo; e não faltam declarações dele mesmo corroborando essa hipótese. Verdade ou não, o registro do episódio serve para caracterizar nitidamente uma das linhas mais firmes do seu mundo de ficção, que pode ser acompanhada pelo leitor atento desde as primeiras obras até o Incidente em Antares (1971): o repúdio à violência em todas as suas manifestações. Quando Clarissa e Vasco abandonam Jacarecanga, o que fica para trás é o mundo dos velhos caudilhos e seus capangas, a memória das guerras sangrentas em que se forjou a história do Rio Grande do Sul numa sequência ininterrupta de mortes e destruições. Essa tradição ”heróica” é ridicularizada pelo romancista na figura do caudilho General Campolargo, temível degolador de passadas revoluções, cujo fantasma assombrara a adolescência de Vasco através dos relatos familiares, minuciosos ao desfiar o rosário infinito de crimes. Um pouco antes de partir, o rapaz encontra-o pessoalmente, em carne e osso, e então vê que o Campolargo já não passa de um velho demente a resmungar incoerências, urinando nas calças. Na carcaça física e moral que repugna Vasco, o escritor projeta, impiedosamente, a caricatura do heroísmo machista, da tradição guerreira, o código moral de uma sociedade que, na violência, ameaça sufocar os destinos de Vasco e Clarissa. Mais tarde, no correr da intriga, essa perspectiva é reforçada através de um dos seus melhores personagens, o Dr. Seixas. Realista incorrigível, homem avesso a qualquer mistificação, Seixas atua em Um Lugar ao Sol como o duplo eu do autor: mais velho do que a maioria das demais personagens, está constantemente a observá-las, comentando a ação que se desenrola, os dramas que se entrecruzam. Em dado momento, ao meditar as origens que condicionam a luta dos seus jovens amigos em busca dum futuro melhor, observa direto:
”Era o Rio Grande dos coronelões, dos capangas, dos caudilhos, das revoluções e da coragem que envelhecia. E no fim, que ficava? Uma geração que envelhecia antes do tempo. (...) E vinham filhos. Filhos! Ratos! Novas criaturas para sofrerem, crescerem às tontas, viverem desnorteadas, casarem e terem por sua vez mais filhos e sempre mais filhos!”
A aversão de Érico Veríssimo á tirania dissimulada sob o disfarce da tradição e do heroísmo gauchesco é uma constante na sua obra e foi detectada por Tristão de Athayde, que a estudou em profundidade. Sua importância avulta, no caso de Um Lugar ao Sol, porque revela o ”romancista social” sempre atento à oportunidade de emitir um juízo crítico sobre a coletividade retratada.
Nele não é possível desprender as personagens do contexto histórico a partir do qual elas agem e se definem, revelando, por consequência, a posição ética adotada pelo escritor. Esta posição se explicita sob dois ângulos: a condenação da violência na primeira parte do romance e, na segunda, a fotografia da pequena burguesia urbana, quando Vasco e Clarissa já se transferiram para a capital. Assim como ajacarecanga provinciana assume uma função microcósmica, concentrando as características tanto positivas quanto negativas da formação rio-grandense, os tipos humanos que se sucedem na segunda parte visam a compor um panorama - o mais rico possível - da sociedade brasileira na década de 30. A pensão que acolhe os Albuquerque quando da sua chegada é um espaço-síntese que permite ao leitor a visualização de variado material humano: jovens desorientados como Vasco, aventureiros como o ”Conde”, estudantes, burocratas medíocres, pequenos comerciantes, todo um universo que fervilha na surda luta pelo lugar ao sol. A odisseia dos dois jovens para garantir a sobrevivência leva-os ao contato com as mais diferentes classes sociais que se distribuem na grande cidade, permitindo a composição do painel; e é a partir daí que se entretece a rede de contatos humanos através da qual avança a intriga romanesca propriamente dita.
A vinculação das personagens centrais com os grandes problemas coletivos, dando margem à apresentação de tipos expressivos, define a clara preocupação social de Érico Veríssimo e, por outro lado, justifica sua receptividade junto a amplas camadas do público leitor. Na medida em que as suas criaturas pertencem à pequena e média burguesia brasileira (e estão, portanto, enraizadas na vida cotidiana), ocorre uma espécie de ”dessacralização” do romance. Nele o que predomina não é o fantástico, as situações de exceção, mas antes a naturalidade da narrativa. A simpatia em relação aos leitores nasce espontânea, porque o material humano torna-se facilmente reconhecível; è gente que podemos encontrar e identificar a cada Passo. Elimina-se, assim, qualquer pretensão aristocrática da ficção, valorizando-se aquilo que o autor encontrou de mais significativo na observação direta da realidade factual. Num romance como Um Lugar ao Sol essa característica básica está solidamente garantida pelas imagens mais destacadas que se fixam na recordação do leitor ao desenvolver-se a intriga: o Dr. Seixas, as famílias da baixa classe média (como a de Ernestides), as mulheres fúteis que povoam as aventuras de Vasco, gente mais sórdida como o pastor Bell e a mulata Docelina, seres desencantados como Amaro. São ao todo cerca de trinta figuras, entre tipos e personagens, que o autor movimenta simultaneamente na ambição de fotografar a dinâmica do comportamento burguês na sociedade dos anos 30. Neste sentido, Um Lugar ao Sol corresponde, no quadro do romance brasileiro contemporâneo, ao esforço de documentação social empreendido, embora por caminhos muito diferentes do de Érico Veríssimo, na Tragédia Burguesa de Octavío de Faria e no Espelho Partido de Marques Rebello.
Tudo o que afirmamos leva a situar Érico Veríssimo como um escritor realista. Realista no sentido de seu amor pela verossimilhança do relato; também pelo rigor da descrição e pela posição crítica que assume, sempre pronto a condenar qualquer forma de violência física ou moral, a tomar partido ao lado dos humildes que buscam assegurar a promessa dos dias futuros. Essa posição, que já se esboçara no primeiro romance (Clarissa, 1932) e se confirmara em Caminhos Cruzados (1934), chega a ser discutida pelo próprio autor na sequência de Um Lugar ao Sol, deixando entrever quase um programa literário, o conceito que ele formou da responsabilidade social do escritor. Em certa passagem Noel, que está planejando um romance, comenta:
”- Eu queria fazer um livro, não da vida como ela é, mas como eu queria que ela fosse. Um livro para a gente ler e reler quando quisesse esquecer a vida real . . . Eu entendo a Arte como sendo uma errata da vida. À página tal, onde se lê isto, leia-se aquilo . . .”
Ao ouvir essa afirmação, sua mulher, Fernanda, entra na discussão e contesta vivamente:
”- Mas Noel, quando se procura um livro não é para fugir à vida, mas sim para viver ainda mais, viver a vida de outras personagens, em outras terras, outros tempos. Ainda é o desejo de viver que nos leva para os romances.” Nas palavras de Fernanda transparece a perspectiva em que o romancista assume a realidade ao transportá-la para a ficção. Embora o mundo do romance defenda a sua autonomia, como obra de criação que é, os caracteres, a ação em que se envolvem e o destino que lhes está reservado podem ser diretamente referidos à rude matéria da vida concreta e presente.
Justamente por isso, em função do seu realismo implacável, Érico Veríssimo não se isenta de escolha e simpatia em relação às personagens. Por mais vasto que seja o panorama humano refletido em Um Lugar ao Sol, e a objetividade de que o autor se muniu para abordá-lo, fica evidente a solidariedade com algumas criaturas que repartem sua preferência: Clarissa e Vasco, Fernanda e Noel, Álvaro Bruno e Seixas. São aquelas que, de uma maneira ou de outra, rejeitaram as contingências da vida imediata, por considerá-la injusta, e buscam transformá-la, reinventando-a na luta e na esperança. Creio que muito dessa visão de mundo do autor foi depositada na personalidade do aventureiro Álvaro Bruno, pai de Vasco, que compara os seres humanos ao peru aprisionado no círculo de giz, volteando eternamente num círculo fictício sem dar-se conta de que pode pular para fora. A solidariedade de Érico Veríssimo, exercendo-se sobre o tecido áspero do cotidiano, está dirigida a esse grupo de gente que, muitas vezes sem adquirir consciência, busca ultrapassar o círculo de giz dajacarecanga envolvida pelo machismo caudilhesco ou da Porto Alegre burguesa, que assume contornos de grande cidade. Assim, por exemplo, num dos melhores momentos do romance, quando o grupo de jovens se reúne no hospital, pouco antes do parto de Fernanda:
”Passaram pela porta aberta dum quarto. Olharam os três ao mesmo tempo, como que atraídos por um misterioso chamado. Pararam um instante. No meio do compartimento se via num caixão branco o cadáver duma criança recém-nascida. Parecia um boneco de cera.
Noel não se pôde conter, desatou o choro. Todos acabaram chorando. Clarissa puxava Fernanda. Fernanda puxava Noel. Saíram quase a correr. Era uma fuga. Fugiam da morte. Fugiam do caixãozinho branco onde estava estendido o boneco de cera ... Só não conseguiram era fugir do medo terrível que agora os assaltava.”
No curso dessa crônica do realismo presente que é Um Lugar ao Sol, instaura-se, assim, no destino das personagens, a dialética entre a vida e a morte. O romance abre com a descrição crua de um enterro, a morte no encalço daqueles que ainda estão vivos; o desdobramento da história não é senão a luta de Clarissa, Vasco, Fernanda, Noel, Álvaro para reafirmarem a vitória da vida sobre o instinto de morte que trabalha na natureza do homem e frequentemente se transmite às outras personagens como Orozimbo e D. Clemência. Nesse combate diário, obscuro - e não nos episódios da crônica guerreira dos caudilhos - reside o verdadeiro heroísmo. E é também aí que se define o humanismo de Érico Veríssimo, o sentido que ele faz da sua missão de romancista, projetado no destino das personagens eleitas. Essa dialética entre a vida e a morte, a crença inabalável na capacidade de reconstrução da existência, constituem o cerne de toda a sua obra. Iremos encontrá-la, por exemplo, em O Continente, uma estranha epopeia da história rio-grandense, na qual, enquanto os guerreiros se destroem numa sequência infindável de acontecimentos sangrentos, as mulheres do talhe de Ana Terra e Bibiana agem como sustentáculos da vida, opondo à violência desenfreada sua perseverança e coragem moral. Dessa vertente nasce também, quase quarenta anos depois de Um Lugar ao Sol, a alegoria do Incidente em Antares, onde um grupo de mortos insepultos retorna à sua cidade para acusar os vivos pelas mazelas e injustiças da vida atual.
O cálido humanismo do romancista ultrapassa aquilo que poderia haver de árido nafécnica cerradamente realista que ordena a narrativa, assinalando a sua generosa capacidade de adesão ao combate das personagens de Um Lugar ao Sol. Ele próprio comentando-os, em 1966, dizia considerar ”o elemento humano que povoa este livro o melhor de toda a minha obra, com exceção talvez de O Tempo e O Vento”. De fato, o que se exige de um romance é um mundo de ficção que nos convença tanto quanto o mundo real; pessoas imaginárias que possam partilhar nossas angústias e esperanças, assegurando a verossimilhança do universo oferecido pelo escritor. Assim ocorre no caso de Um Lugar ao Sol, publicado pela primeira vez em 1936, que mantém íntegra a sua potencialidade comunicativa. Talvez porque, ao traçar os caminhos de suas personagens, a sensibilidade de Érico Veríssimo tivesse sempre consigo aquelas palavras que Fernanda dirige a Noel e que constituem, aliás, o princípio de toda a verdadeira criação literária: ”- Ainda é o desejo de viver que nos leva para os romances” . . .
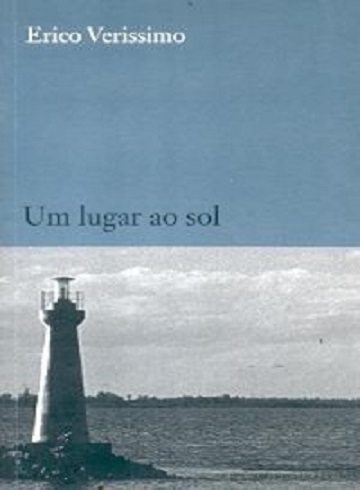
O defunto dominava a casa com a sua presença enorme. Anoitecia, e os homens que cercavam o morto ali na sala ainda não se haviam habituado ao seu silêncio espesso.
Fazia um calor opressivo. Do quarto contíguo vinham soluços sem choro. Pareciam pedaços arrancados dum grito de dor único e descomunal, davam uma impressão de dilaceramento, de agonia sincopada.
As velas ardiam e o cheiro da cera derretida se casava com o perfume adocicado das flores que cobriam o caixão. A mistura enjoativa inundava o ar como uma emanação mesma do defunto, entrava pelas narinas dos vivos e lhes dava a sensação desconfortante duma comunhão com a morte.
O velho calvo que estava a um canto da sala, Voltou a cabeça para o militar a seu lado e cochichou:
- Está fazendo falta aqui é o Tico, capitão.
O oficial ainda não conhecia o Tico. Era novo na cidade. Então o velho explicou. O Tico era um sujeito que sabia animar os velórios, contava histórias, tinha um jeito especial de levar a conversa, deixando todo o mundo à vontade. Sem o Tico era o diabo... Por onde andaria aquela alma?
Entrou um homem magro, alto, de preto. Cumprimentou com um aceno discreto de cabeça, caminhou devagarinho
até o cadáver e ergueu o lenço branco que lhe cobria o rosto. Por alguns segundos fitou na cara morta os olhos tristes. Depois deixou cair o lenço, afastou-se enxugando as lágrimas com as costas das mãos e entrou no quarto vizinho.
O velho calvo suspirou.
- Pouca gente...
O militar passou o lenço pela testa suada.
- Muito pouca. E o calor está brabo.
- E ainda é cedo.
O capitão tirou o relógio: faltava um quarto para as oito.
Da rua vinham ruídos alegres, gritos de crianças, a música dum rádio, longe.
Estralou uma viga do teto. As velas crepitavam. Os soluços continuavam. E os homens que faziam companhia ao morto pareciam não ter coragem de falar.
O senhor de preto voltou do quarto, sacudindo a cabeça e enxugando novas lágrimas, foi sentar-se perto da porta e ali ficou muito quieto, fazendo um cigarro.
Passaram-se os minutos. A noite caiu por completo. Alguém falou em acender a luz elétrica. O velho calvo achou que não era direito: quem devia fazer isso era alguma pessoa da família, algum parente... O senhor de preto só ouviu a palavra ”parente”. Ergueu-se, de cigarro na mão, e disse, muito atencioso, com certo orgulho:
- Eu sou primo terceiro do falecido.
O velho calvo compôs no rosto uma expressão de pesar:
- Então aceite os meus pêsames.
Abraçaram-se sem nenhuma cordialidade. E de repente o homem de preto - nem ele mesmo soube por quê desandou a chorar em grandes soluços. O velho suspirou, olhou para o capitão como a pedir socorro. O militar ergueu-se, caminhou para o homem de preto e bateu-lhe no ombro:
- Que é isso, nosso amigo? Tenha coragem. O velho calvo sacudiu a cabeça:
- Foi uma coisa bárbara...
E entraram no assunto. O capitão contou:
Por questão de dois minutos quase assisti ao crime...
- Veja só...
O homem de preto parou de chorar.
- Me dê o fogo, capitão.
O capitão passou-lhe o isqueiro aceso.
- ’brigado. - Pausa. Suspiro. - Pois nesta mesma sala já velei três defuntos.
Os outros sentiram que estas palavras eram a introdução da longa história que o homem de preto queria contar. Esperaram.
- E nenhum dos três teve morte natural. Minto: o velho Olivério morreu de doença, uremia se não me engano... Mas o filho se atirou na lagoa e morreu afogado. Se lembram?
O velho lembrava-se.
O militar era novato na cidade, estava em Jacarecanga havia poucos meses, não conhecia o morto, viera ao velório ”por uma questão de solidariedade humana” - como já tinha explicado ao velho, acrescentando que era ”espírita dos quatro costados”.
O homem de preto chupou o cigarro.
- Pois. .. Me dê outra vez o fogo, capitão. Obrigado. Pois teve uma sobrinha do velho Olivério que tomou cianureto ... ou arsénico, não me lembra bem. Parece que ainda estou vendo a cara da coitadinha.
- Desgostos? - perguntou o capitão.
- O marido abandonou ela com um filho pequeno depois do casamento.
- Veja só...
- O senhor compreende: dois suicídios. Agora. .. este desastre: o pobre do João de Deus!
Suspirou e olhou para o defunto. O velho calvo repetiu:
- Foi uma coisa bárbara. ..
Os soluços estavam mais fortes. Os homens do velório também sofriam; tinham uma vaga piedade pela pessoa que soluçava assim; mas sentiam-se ao mesmo tempo incomodados por aquele som desagradável que os deixava ansiados, que lhes dava um esquisito mal-estar. E chegavam então quase a querer mal à mulher que soluçava.
O homem de preto lutou com o cigarro por alguns segundos. O capitão tornou a olhar o relógio. O velho pigarreou e depois disse, baixinho:
- Eu vi logo que essa pendenga ia terminar na bala... O capitão chegou os lábios perto dos ouvidos do companheiro e lhe perguntou com um mistério na voz:
- Então o senhor acha? ...
O velho confirmou com um aceno de cabeça. Se o chamassem para depor, ele diria sem medo tudo quanto sabia. Vira o Zé Cabeludo encilhar o cavalo no pátio da Prefeitura aquela mesma tarde. E havia duas testemunhas que tinham visto o Cabeludo balear João de Deus.
- Canalhas! - murmurou o homem de preto, convencionalmente, sem o menor calor.
E de repente entrou o Tico. O rosto do velho iluminou-se.
- O Tico! Olá, bichão!
Estendeu a mão para o recém-chegado. O Tico era um sujeito magro, de barba de dois dias, dentes pretos e nariz furado de bexigas. Foi logo apertando a mão do capitão, que não conhecia, e do homem de preto, que conhecia só de longe.
- Mas então? - Sua voz era metálica e cantante. Então? - Olhou para o caixão e sacudiu a cabeça. - Pobre do João de Deus! - E em seguida, quase sem mudar de tom: - Onde está a viúva? - O velho mostrou com o beiço o quarto vizinho. - Coitada da D. Clemência. - Exprimiu seu pesar num muxoxo. - E a Clarissa? Coitadinha. É ela que está soluçando? Menino, é horrível quando a gente quer chorar e não pode. Mas então conseguiram pegar o bandido?
O Tico se dirigia ora a um, ora a outro, mas não dava à ninguém tempo para responder. De quando em quando olhava o caixão de soslaio ou acenava para algum conhecido. Num dado momento, aproximou-se do morto, ergueu o lenço, contemplou-lhe longamente o rosto e voltou para o grupo:
- Já viram que pontaria? Aquele Cabeludo é tremendo. Uma vez na Soledade ...
E começou a contar a história dum grande crime. O velho escutava com gosto. Finalmente chegara o Tico para salvar a situação! O capitão estava também fascinado, olhava para o velho com um ar fraternal, como a lhe dizer que realmente o Tico era o homem que estava fazendo falta.
Começou então o duelo entre Tico e o morto. O morto com seu silêncio pedia silêncio, lembrava aos presentes que todos como ele um dia tinham de morrer, apodrecer, ir embora para todo o sempre; o morto sem falar contava os segredos medonhos da morte. Mas Tico lutava contra o cadáver. Tico queria lembrar a todos (e nem chegava a ter consciência do duelo) que a vida continuava, apesar do defunto.
Tico falava. Tinha a sua técnica: saltava duma história para outra. E ia aos poucos vencendo o silêncio que o morto espalhava na sala. Começava num meio-tom discreto, ia subindo, subindo até que por fim chegava ao diapasão natural.
Mas agora Tico lutava com desvantagem. Tinha contra si também os soluços ansiados de Clarissa. E esses soluços como que faziam parte do silêncio do morto. E era por isso que, impressionados, os homens em sua maioria não achavam interesse nas histórias do conversador. Até o velho calvo ao cabo de alguns minutos perdeu o entusiasmo. E sacudiu a cabeça, só atinando com dizer:
- Foi uma coisa bárbara... Tico fez ainda uma tentativa:
- Por falar em crime vocês nunca ouviram falar naquele degolamento de Passo Fundo?
Ninguém prestou atenção à pergunta. Porque naquele momento, a menina que soluçava desatou o pranto.
Todos sentiram um alivio.
Por baixo do lenço, o rosto do morto tinha uma estranha cor esverdinhada. Uma atadura envolvia-lhe a cabeça de negros cabelos duros, passando-lhe por cima de um dos olhos. Um filete de sangue coagulado, dum vermelho quase negro, manchava a face esquerda de João de Deus. Era como se seu olho ferido tivesse chorado sangue.
- Quem é aquele moço? - perguntou o militar, fazendo um sinal na direção da porta.
Os outros olharam. Um rapaz alto e moreno, de ar desamparado, estava parado junto do morto.
- É Vasco, primo do falecido - explicou o velho. Vasco olhava mas não via o defunto: via só os seus
pensamentos desordenados. E era dentro de seus pensamentos que o morto morava: era dentro de seus pensamentos que havia um cadáver entre quatro velas, um homem rude e moreno com o olho vazado por uma bala, a cabeça varada de lado a lado, a cara manchada de sangue. Por isto seus olhos tinham uma expressão selvagem. Por isto estava ele ali de braços caídos, angustiado como um pesadelo, desejando a manhã, desejando o sol, desejando o dia novo que lhe viesse dizer que tudo aquilo simplesmente não tinha acontecido.
A cabeça estalava-lhe de dor. O calor dava-lhe uma sensação de esmagamento, de falta de ar, de morte lenta. Não podia pensar com clareza. Que era então aquilo? Tudo confuso... A dor latejante... O calor... A asfixia..’. A lembrança daquele homem que ele vira de olho a sangrar, daquele corpo caído na sarjeta como um cachorro, tingindo de sangue a água podre . ..
Vasco viera do outro quarto, de junto da prima. Clarissa soluçava numa agonia, esforçando-se por chorar. Clarissa sofria. Seu corpo todo estremecia convulso a cada soluço; o rosto se contraía; os dedos crispados amassavam o lenço seco; os olhos tontos olhavam para coisa nenhuma. E o choro não vinha. Finalmente rompera-se a represa e toda a sua ânsia tão contida se espraiara num lago largo quase sereno. Agora lá estava ela a chorar livremente...
Vasco não tirava os olhos do defunto. Sentia os pés presos ao chão, como se tivessem raízes naquele soalho secular do casarão dos Albuquerques. Tinha vontade de gritar:
- João de Deus! João de Deus! Levanta, homem, não vês que assim transtornas tudo, fazes a tua filha sofrer? Levanta, animal! Olha no espelho essa cara horrorosa! Levanta, e manda embora esta gente insuportável! Levanta, que eu quero jogar pela janela estas velas, estas flores, este caixão, aquele crucifixo...
Ergueu os olhos para a grande cruz reta da parede de onde um Jesus de prata, com os braços abertos e a cabeça pendida, tinha o ar de quem sofria também. Ficou olhando... No meio da escuridão do seu desvario, da sua falta de fé, lucilou uma luz mortiça que logo se apagou.
Ele nunca conseguira achar Cristo. Mas trazia nas profundezas do ser, um velho temor superticioso. Na sua infância a avó que o criara, falava em Deus, as criadas falavam em Nosso Senhor, ensinavam orações que começavam assim: ”Padre nosso que estais no céu...”. Quando trovejava e relâmpagos rasgavam o céu, cochichavam-lhe ao ouvido: ”Papai do Céu está brabo”.
Vasco olhava... No meio da escuridão brilhava lá no passado, como a luz dum farol em mar de tempestade, aquele temor vago.
Não, ele não podia jogar fora aquela imagem. Era a imagem do filho de Deus... Mas onde estava Deus?
O calor sufocava-o. A dor martelava-lhe a cabeça, desesperadamente, como um prisioneiro batendo nas paredes da prisão.
Vasco queria enxergar claro mas não podia.
E seus olhos fitavam Jesus, filho de Deus. Jesus à cabeceira do morto. Jesus morto também.
Mas ele não acreditava em Deus, não acreditava em Deus! De que valia Deus se os homens matavam impunemente, se as criaturas sofriam, se a dor morava na terra? Que fazia ali aquele Cristo que não tinha forças nem para livrar-se a si mesmo da Cruz? Que fazia ali à cabeceira do morto aquela imagem de metal, feita por mãos de carne, mãos que apodreciam na terra como dentro em pouco estaria apodrecendo o corpo de João de Deus?
Alguém abraçou Vasco de mansinho:
- Meus pêsames.
O rapaz continuou, mudo, imóvel, estupidificado. Arrastaram cadeiras na sala. Tico estava calado. O morto vencera-o.
Vasco tirou o lenço do bolso e enxugou o suor que lhe umedecia a testa. Num breve intervalo da dor, num instante absurdo de serenidade ele se lembrou dum verso: Era no glacial dezembro.
O choro de Clarissa estava mais fraco. Murmúrio de conversas: Tico que tentava uma nova ofensiva.
A chama das velas tremia, a cera escorria pelas hastes cor de marfim, formando nela estranhas incrustações. Alguém se aproximou do morto para ajustar uma coroa que estava cai-não-cai.
De repente Vasco sentiu a dor de cabeça recrudescer. Teve uma tontura e apoiou-se numa cadeira para não cair. Turvou-se-lhe a vista. Na meia-luz da sala, as velas, o caixão coberto de folhas e flores, as pessoas, os murmúrios, o crucifixo, os pesados reposteiros de veludo verde-musgo
- tudo isso lhe dava a impressão dum matagal. (A floresta cerrada sempre lhe causara angústia. Ele amava o campo, as nuvens, o vento, o céu, tudo que era livre. Mas detestava o mato.)
E agora, estranhamente, tinha a impressão de que estava perdido num matagal. Queria fugir, procurava a estrada para o sol. ..
Tornou a olhar para o morto e descobriu então que odiava João de Deus, odiava-o dum ódio incoerente, inexplicável, endoidecedor. Era como se ele tivesse culpa de estar ali estendido sem vida; era como se tudo fosse uma pesada brincadeira sua; um trote estúpido, uma graça trágica. Agora tudo ia mudar. Casa sem chefe, casa sem lei. As contas batendo à porta, todo o dia, todo o dia, todo o dia. O casarão hipotecado aos gringos. E dentro do casarão aquelas duas pobres mulheres - Clarissa e a mãe - e um homem bêbedo e inútil e mais ele, Vasco, pobre-diabo sem rumo, velho aos vinte e dois anos, perdido no mato, perdido no mato, perdido no mato!
Mas por que aquela ideia maluca de que estava perdido numa floresta? Por quê? Esforçava-se por convencer-se a si mesmo de que aquilo era um absurdo, uma tolice, uma... uma. ..
Sim. Achava-se perdido no matagal. As árvores conspiravam para o esmagar, seus ramos escuros tapavam o céu. E só no céu é que estava a salvação, a lua, as estrelas, o ar puro, tudo o que era livre, limpo e bom. No mato havia cobras viscosas. (Uma mão fria e suada apertou a sua - ”Condolências”.) As árvores cochichavam. E havia quatro velas no mato. E um morto. Sim, ele estava preso, perdido no mato, sozinho com um defunto. Mas não! Lá estava também Cristo, mas Cristo não sabia o caminho, queria salvá-los e não podia.
Perdido no matagal com um defunto. Perdido na vida com um defunto. Perdido para sempre. Para sempre! Para sempre!
O suor lhe escorria pelas faces, pelo pescoço, entrava pelo colarinho desabotoado e descia pelo peito cabeludo. Um suor frio de pavor.
E a dor martelando...
Afrouxou mais o nó da gravata. Tornou a passar o lenço pelo rosto. Alguém acendeu a luz.
Como um morcego ferido pela claridade, Vasco procurou a porta da rua, meio às cegas.
Fora, sentiu que se libertara do matagal. Caíra entretanto, numa cilada estranha. Não. Aquela não era a sua velha rua. Não conseguia reconhecer a fisionomia familiar das casas, das árvores. Era uma cidade de pesadelo que ele via confusamente através das manchas esverdeadas que cresciam diante de seus olhos. Sentiu-se perdido de novo e teve vontade de gritar.
Passavam vultos humanos por ele - o que lhe aumentava a sensação de abandono e desnorteamento. Se ao menos pudesse enxergar claro, ouvir claro, pensar claro! Mas os sons e as imagens lhe chegavam abafados e nevoentos à consciência. Era como se ele estivesse caminhando pelo fundo do mar, metido numa roupa de escafandro, sentindo no peito a pressão angustiante de várias toneladas dágua.
Vasco lutava com seus pensamentos, querendo pô-los em ordem. Esforçava-se por trespassar a névoa. Agora não era só a dor, mas também uma sensação de náusea, um peso no estômago, a boca amarga como fel.
Ficou parado um minuto. Depois começou a caminhar, tonto.
- Oh! O Vasco...
Parou instintivamente, ouvindo o seu nome. Alguém se aproximou, abraçou-o com calor. Vasco ficou imóvel. Ouviu vagamente palavras soltas, abafadas: ”...barbaridade... justiça... anditismo”. Outro abraço. E o vulto se afastou.
Vasco retomou a marcha com uma zoada nos ouvidos. Viu-se de repente na claridade da praça. Viu, do outro lado da rua, a fachada iluminada do cinema, com cartazes coloridos, grandes lâmpadas bojudas de luz leitosa, grupos de homens.
Refugiou-se na zona mais escura da praça, parou à sombra duma árvore. Viu um banco. Sentou-se brusco e pesado. Manchas dum verde sujo cresciam sobre seus olhos. A dor continuava a martelar. De súbito Vasco teve a sensação de que não possuía mais braços nem pernas nem olhos, mas apenas cabeça e estômago.
Sentiu a náusea com redobrada força. Teve uma contração, que o fez dobrar-se sobre si mesmo. Inclinou-se mareado sobre a guarda do banco. E toda a sua aflição lhe jorrou pela boca sobre a relva, numa torrente amarga e viscosa.
Um cachorro aproximou-se do banco, cheirou repetidamente as botinas de Vasco; depois ergueu o focinho e lambeu-lhe as costas da mão que pendia abandonada. Vasco despertou sobressaltado, ao contato fresco e mole. Despertou e a primeira coisa que viu foi o céu estrelado e fundo da noite. Sentiu contra as costas e contra a nuca a dureza do cimento. Soergueu-se com pequeno esforço, estonteado.
Quanto tempo havia dormido? Chegara mesmo a dormir ou teria ficado apenas numa modorra de pesadelo?
Aproximou-se do chafariz, molhou o lenço no esguicho e passou-o pelo rosto, demoradamente. Sentou-se de novo.
Agora tudo estava claro e a dor de cabeça desaparecera.
Só o gosto amargo persistia na boca e uma grande fraqueza lhe amolecia o corpo.
Ficou com a cabeça atirada para trás, tratando de recompor as ideias.
Parecia uma ressurreição. Sentia a fragrância das folhas dos plátanos, o cheiro úmido da relva. Respirou forte, passou a mão pelos cabelos e de repente se lembrou do morto.
Sim, ele tinha um morto em casa. E os outros parentes estavam chorando, enquanto na sala maior as velas ardiam, os vivos conversavam em voz baixa e João de Deus continuava no seu silêncio medonho.
Vasco lembrou-se da sua angústia. Tinha sido uma sensação estranha, a impressão perfeita de estar perdido num matagal. Chegara a odiar Cristo.
Mas Cristo agora estava para além das estrelas. Livrara-se também do matagal, já não tinha nenhuma cumplicidade com as coisas sujas e horrendas da morte. Os homens podiam de novo ter fé n’Ele.
Vasco olhou para o céu estrelado e teve vontade de fugir. De resto, esse desejo de fuga o perseguira sempre. Às vezes tinha a impressão de que em Jacarecanga se afogava na lama. Sentia saudades de terras que nunca vira. Diante dum mapa, dum cartaz de turismo e às vezes duma simples palavra - Xangai, Honolulu, Nápoles - ficava melancólico, tomado duma absurda melancolia, passava horas e horas perdido em pensamentos turbulentos.
E agora, se fugisse, se livraria para sempre do morto, da tristeza dos dias de luto, da lama da cidade, dum passado escuro. Se ele pudesse!
Levantou-se e foi beber água no chafariz. Ficou com o rosto todo respingado. Sensação de frescura. Empapou os cabelos e saiu a caminhar, as pernas um pouco bambas. O amargor da boca aos poucos desaparecia.
Para onde ir? Hesitou. Sentia que sua obrigação era voltar para casa, receber as visitas no velório, atender às mulheres. .. Mas odiava tudo aquilo. Odiava os homens que vinham com palavras convencionais. Odiava toda aquela cerimónia absurda: as velas, o pano negro com bordados de ouro, as flores. O que ele queria era a liberdade, o ar livre e limpo, o privilégio de andar assim sem chapéu e sem lei, dum lado para outro, acenando para todos mas não se detendo para falar com ninguém. Diziam que era rebelde. Muitos não gostavam dele. Quando era menino os companheiros lhe chamavam Gato-do-Mato, porque ele era selvagem e solitário. Sim, um bicho de unhas aguçadas. E quem tinha a culpa disso era João de Deus, o morto. Maltratara-o. Vivia a lembrar-lhe a sua condição de órfão. E muitas vezes lhe dizia: ”Olhe, seu patifinho, você não tem pai nem mãe. Sua mãe não teve juízo. Seu pai era um canalha e abandonou vocês. Agora você tem de me obedecer porque quem lhe mata a fome sou eu!” E à menor travessura dava-lhe taponas. Se aparecia uma vidraça quebrada, logo vinha João de Deus com a sua cara feroz, gritando: ”Foi o Vasco!” Um dia (tinha sete anos) encontrou uma garrafa de vinho e bebeu um trago. João de Deus descobriu a coisa e chamou-o: ”Venha cá, seu Vasco. Abra a boca!” Ele abriu. João de Deus cheirou-lhe o hálito. ”Eu não disse? Foi este canalha. Vai ser bêbedo como o pai.” E deu-lhe uma sova. E assim vivera ele no casarão. Só D. Clemência, mulher de João de Deus, é que o tratava com certa brandura. Mas era também uma criatura seca, sem carinho. Às vezes dava-lhe pedaços de marmelada, bo-mbocados e outras gulodices às escondidas. Nunca, porém, se lembrara de lhe dar um beijo. Por tudo isso ele começara a amar a solidão. Gostava de sair para o campo, sozinho. Deitava-se de cara para o céu, olhando as nuvens que formavam desenhos esquisitos. Ficava escutando a voz do vento ou então, fincando o nariz na grama, punha-se a olhar a marcha das formigas. E assim se passara sua infância. Mais duma vez tentara fugir: ficava um, dois, três dias sumido...
E de duas coisas Vasco não esquecia (mesmo porque os maiores sempre o faziam lembrado delas). Era que o pai fugira e que a mãe, de desgosto, se suicidara, tomando cianureto.
Curioso. A palavra cianureto tinha para ele uma significação misteriosa. Ouvia-a desde os cinco anos. A princípio associara-a a uma espécie qualquer de doce raro e proibido. Mais tarde confundira-a com carbureto. Aos treze anos surpreendera-se a procurar o seu significado num dicionário. Aos treze, num dia de tristeza profunda, entrara numa farmácia com este recado: ”O Dr. Penaforte (era o médico da família) mandou pedir um pouco de cianureto”. Estava sério. Tinha tomado uma resolução. Não tinha mãe. (Só contava com o amor da avó, que era carinhosa mas que não tinha mais idade para o compreender.) Não sabia por onde andava o pai. (Sentia, entretanto, por ele um fascínio misterioso.) Estava sozinho no mundo. O melhor que tinha a fazer era acabar com a vida, seguir os passos da mãe. Seria simples. Deixaria um bilhete assim: ”Morro porque esta vida se tornou insuportável. Não culpem ninguém. Adeus para todo o sempre. Vasco”. Copiara o bilhete do suicida do romance ”As Núpcias da Morte”, que lera às escondidas. Tinha o bilhete no bolso das calças e segurava-o com força no momento em que pedia cianureto ao balcão da farmácia. O farmacêutico, sorrindo, compreendeu quase tudo. Deu-lhe uma caixinha com um pó branco. No rótulo estava escrito: Cianureto.
- Bote na conta - disse Vasco.
Deitou a correr. Foi para baixo da grande figueira do pátio, pregou o bilhete com um canivete no tronco da árvore, e, num gesto desesperado, despejou o pó branco goela abaixo. Era amargo. Fez um esforço, engoliu-o todo. Depois, deitou-se para esperar a morte.
A morte, a morte, a morte... Ao Vasco de treze anos que pedira a morte, o farmacêutico dera uma pitada de bicarbonato de sódio. Ao João de Deus que queria viver, que lutava desesperadamente para viver, um capanga dera a morte, um tiro no olho...
Vasco caminhava... Seus passos o levavam, sem que ele percebesse, para o casarão. Havia na rua janelas iluminadas, vultos nas calçadas, risos, conversas, música de rádios.
Vasco se lembrou de que aquela era a noite de Ano bom. Para toda gente começaria no dia seguinte um ano novo. Todos tinham esperança. Só para João de Deus é que tudo estava acabado. Pobre-diabo! Vasco não lhe guardava nenhum rancor. Se não conseguira nunca estimá-lo como a um segundo pai, também não lhe fora possível odiá-lo, apesar de suas malvadezas fininhas, de seus tabefes, de suas implicâncias, de suas exigências de tiranete. Lá estava ele agora com aquele buraco na cabeça. E então Vasco se lembrou do seu pavoroso fim de dia.
Tinha ido jantar na casa de Cleonice uma irmã de D. Clemência recém-casada. Fora um jantar alegre. Havia comida em abundância, e ele comera verozmente, como um animal são e despreocupado. Esquecera por vários minutos as tristezas do casarão (João de Deus falido e sem emprego, atolado na política; Jovino sempre bêbedo, inchado e se descompondo em vida; D. Clemência a matar-se na máquina de costura; Clarissa a sustentar a casa com o seu ordenado de professora). Chegara a fazer pilhéria com Cleonice, aludindo ao seu noivado de mais de doze anos. Havia uma salada esplêndida, um churrasco gordo, e frutas. Por fim, farto e pesado, sentira uma leve melancolia e ficara sentado, meio ansiado, a olhar com tristeza para os pratos vazios.
Cleonice comentou:
- O Vasco até ficou triste. Comendo desse jeito e no entanto sempre magro.
Ele sorriu sem vontade. Inventou um pretexto e saiu. Entardecia. Havia no ar essa alegria nervosa e expectante que se nota nas proximidades das grandes festas. Na rua, às janelas, na praça, nos cafés, falava-se nas comemorações: grande baile no Recreio, sessão especial no cinema, kerb no Clube Germânia.
Vasco seguia pela rua acompanhado de tristes pensamentos. Só no casarão é que não havia festa. Jovino entraria à meia-noite, cambaleando. João de Deus comentaria a política, falaria mal do prefeito, seu inimigo. D. Clemência olharia tudo com os seus olhos resignados e permaneceria silenciosa, lembrando-se decerto de tempos mais felizes. Clarissa se refugiaria no quarto, iria escrever no seu diário, ler os seus livros, ou talvez procurar desabafo no choro. Vasco ia fazendo estas reflexões e se perguntando a si mesmo se por acaso não haveria para Clarissa e para ele, pelo menos para os mais moços, uma esperança qualquer de escapula, de vida melhor, de fuga daquele ramerrão rançoso, aviltante e sem sentido, inútil...
De repente ouviu um tiro. Estava a meia quadra da praça. Viu gente correr e ouviu gritos. Apressou o passo. Passou por ele um conhecido, correndo.
- Depressa! Balearam o João de Deus.
Vasco parou de inopino, como se tivesse recebido uma bordoada. Retomou depois a marcha, meio desnorteado. Viu uma aglomeração junto de uma das calçadas da praça, à frente da igreja. Aproximou-se, abrindo caminho com os braços longos e fortes. E de súbito, com a impressão de quem encontra pela frente um precipício, estacou diante dum corpo estendido na sarjeta. Era João de Deus. Mas não! Havia algo de estranhamente horrendo que não pertencia à fisionomia do pai de Clarissa. A bala lhe furara, lhe esmigalhara o olho esquerdo, que ali estava como um olho-d’água, manando sangue, sangue vermelho, decerto quente, num vestígio de vida a escorrer-lhe pelo rosto moreno e contorcido. E o olho direito estava arregalado, parecia ainda vivo, parecia ver, mas ver alguma coisa muito horrível que lhe dava aquela expressão fixa de pavor.
Vasco sentia-se como que pregado às pedras da rua. E olhava, estúpido. Começou a tremer. Teve medo de rolar sobre o morto e receber também na cara aquele sangue a que se misturavam fragmentos do olho dilacerado, aquele sangue que gotejava, tingindo de vermelho a água podre da sarjeta.
Ao redor de Vasco brotavam conversas desencontradas. As palavras que se ouviam mais era ”capanga” e ”Cabeludo”. Um homem pálido resmungava:
- Não temos polícia nesta terra.
Um senhor de colarinho duro mirou o cadáver e sacudiu a cabeça:
- Na nossa artéria principal acontece uma barbaridade destas. Onde estamos?
Um sujeito magro, de barba crescida, comentou com voz trêmula:
- Parece que estamos no tempo do Gen. Campolargo.
- É verdade...
Muitos rodeavam e crivavam de perguntas um rapaz ruivo e retaco, que dizia, muito satisfeito por se ver alvo de tanta atenção:
- Não vê que eu vinha vindo calmamente pela frente da igreja quando vejo um sujeito de bombacha, bota e espora, pala de seda e chapéu de aba larga correr pró lado do seu João de Deus...
- Era o Zé Cabeludo, capanga do prefeito! - exclamou entusiasmado um oposicionista.
- Ssst! - repreendeu-o, cauteloso, o senhor de colarinho duro.
- Não tenho medo de dizer! Podem me matar - retrucou o oposicionista, batendo no peito.
O ruivo continuava:
- Eu nem prestei atenção... Pois, menino, quando vi, a bagunça estava fechada, seu João de Deus ia recuando e de repente ouvi o tiro e vi o pobre do homem rolar...
- E o agressor? - perguntou o senhor de colarinho duro.
- O homem do pala? Azulou.
Repetiu a história para os que não tinham ouvido.
Vasco não atinava com nada. Todos os seus sentidos se concentravam agora no olhar. Ele queria desviar os olhos da visão horrenda. Queria mas não podia. Era uma atração maligna, poderosa, tremenda. O olho sangrava. A água da sarjeta ia ficando cada vez mais vermelha.
- Não se faz nada? - perguntou um dos homens, apontando para o corpo.
O do colarinho duro explicou que não se podia mexer no cadáver antes de chegar a polícia. Mesmo não adiantava nada, porque o coitado estava morto.
O grupo aumentava aos poucos. Chegavam automóveis. Curiosos e excitados acotovelavam-se, quase se agrediam, suados. Formavam-se discussões. O nome do prefeito ligado ao de João de Deus e ao do capanga Zé Cabeludo andava de boca em boca em gritos ou murmúrios. O capanga era conhecido e temido, tinha várias mortes nas costas.
De repente, erguendo a voz no meio da multidão, um velho afirmou:
Eu vi o Zé Cabeludo encilhando o cavalo dele no pátio da prefeitura.
Uma voz rouca e raivosa estourou perto:
- Não prova! Não prova!
Tumulto. Apareceram guardas-municipais de espadas desembainhadas. O grupo se dispersou. Ouviram-se gritos de mulher. Chegaram novos automóveis. As janf
elas das casas da praça apontavam caras assustadas.
Alheio a tudo, Vasco contemplava o morto. João de Deus caído na sarjeta como um cachorro sem dono... Na sarjeta! Na sarjeta! Como um cachorro!
Vasco suava. A cabeça começou-lhe a doer terrivelmente. Sentia no estômago um peso de chumbo, uma náusea fria.
De repente se sentiu empurrado pela multidão. Deixou-se levar, defendendo-se instintivamente para não cair.
Daí por diante não teve noção clara do que acontecia a seu redor. Só se lembrava de que chegara a casa junto com o morto, que ia numa maca carregado por quatro homens. Conhecidos tinham corrido a levar a notícia à família. Quando o cadáver de João de Deus entrou no casarão, Clarissa estava sem sentidos. D. Clemência, muito pálida, de olhos saltados, não sabia se atendia à filha desmaiada ou ia receber à porta o cadáver do marido. E de súbito surgiu dos fundos da casa o vulto pesado de Jovino. Vinha cambaleando, a baba a escorrer-lhe pelos cantos da boca. Tresandava à cachaça. Chorando como uma criança, atirou-se sobre a maca:
- Mataram o meu irmão! - gritava. - Mataram o meu irmão! O meu irmão!
Enquanto os homens depositavam o defunto na cama do casal e Jovino se rolava no chão, Vasco permanecia ao pé da escada, sem a coragem dum movimento, a cabeça a estourar, o corpo sacudido de tremores, a náusea a aumentar cada vez mais.
Vasco agora ruminava aquelas horas amargas. De repente desejou esquecer tudo. Olhou para as estrelas. E se fugisse?
Chegava à frente do casarão.
Sentiu que de novo o pavor ia tomar conta de todo o seu ser. Ah! era a casa da morte. Dentro dela havia muita tristeza, cheiro de velas, mulheres chorando, homens falando em voz baixa, e a presença incômoda e brutal dum cadáver.
Afastou-se do casarão em passos apressados. Dobrou a primeira esquina e se foi sem destino.
Às dez horas chegou ao velório uma comissão do partido oposicionista. Eram três homens de meia-idade, vestidos de escuro. Entraram constrangidos e um tanto solenes. O chefe da comissão executiva (plastrão, colarinho de ponta virada, medalhão na corrente do relógio com a efígie de Silveira Martins) aproximou-se do velho calvo:
- Onde é que está a viúva? - perguntou com voz macia.
O velho chamou o homem de preto e tomando-lhe do braço, mostrou-o ao chefe da comissão:
- Este senhor é da família.
Apertos de mão, abraços. Meus pêsames.
- Vimos em nome do partido... - pigarro. - Desejamos apresentar nossas condolências à família.
- Ah!
O homem de preto fez um sinal na direção duma porta. Dírigíú-se para ela, muito contente por ”ser da casa”. Os recém-chegados o seguiram.
Acharam-se depois embaraçados na frente da viúva e da filha. O chefe balbuciou palavras convencionais. As mulheres soluçavam com os rostos escondidos nos travesseiros.
O homem do plastrão aproveitou uma pausa nos soluços e falou:
- Isso não fica assim, D.Clemência. Nós estamos agindo. Não fica assim.
Os companheiros sacudiam a cabeça, num assentimento. Eram sombras quase indistintas no quarto sombrio.
- Foi uma monstruosidade. - O chefe da comissão já falava mais alto. - Havemos de fazer o possível pra pegar o assassino. Já se sabe que foi aquele bandido, capanga do prefeito, o Zé Cabeludo. Nós lhe damos a nossa palavra que isso não fica assim! -Ao pronunciar estas palavras seu rosto flácido endureceu, seus punhos engomados tremeram ao gesto que dava a ideia duma mão vingadora a cair sobre a cabeça do culpado.
- Clemência e Clarissa se achavam mergulhadas num lago escuro e fundo de dor, onde havia monstros de pesadelo, confusão, ânsia, medo e espanto. Eram como afogadas que não podiam subir à tona: tinham pedras amarradas ao pescoço. E agora aqueles homens lhes falavam lá da flor dágua. O que eles diziam não tinha sentido para os afogados.
Fez-se um silêncio aterrador.
A comissão despediu-se. O choro das mulheres redobrou.
Clarissa sentia contra o rosto a aspereza da fronha úmida de lágrimas. Estava estendida na cama do casal, ao lado da mãe. O calor e o abafamento do quarto aumentavam-lhe a aflição.
Ela se esforçava por não pensar. Queria esquecer, dormir. Tivera sempre horror à morte e no entanto a morte insistia em visitar-lhe a casa. Primeiro fora tio Amâncio, que morrera num sanatório de Porto Alegre. Depois, tia Zezé, avó de Vasco, que uma manhã aparecera morta na sua cama, com os olhos muito abertos e um sorriso na boca murcha. E, mais longe no passado, outros desastres: o suicídio de tio Cristóvão, que se atirara na lagoa, o de tia Zuzu. Agora, pior que tudo, papai...
E na dor de Clarissa pela perda do pai havia também muito de pavor. Talvez a morte já a tivesse escolhido para levá-la em sua próxima visita. Quem sabe?
Mas a grande, a terrível verdade era que papai estava morto, seria enterrado na manhã seguinte e depois ninguém mais veria a figura dele no casarão. Ninguém mais ouviria suas passadas, duras e firmes, a voz familiar. ”Clemência, quero um banho! Clarissa, me traga uma toalha.” ”Negra, me faça um chimarrão.” Nunca mais. E à hora das refeições haveria dali por diante mais um lugar vazio a mesa. E todos em casa se vestiriam de preto por muito tempo. Papai morreu. Papai morreu. Tudo mais agora desaparece, só fica este horror: Papai morreu.
Clarissa chorava, afundando o rosto no travesseiro.
Sem se voltar para a filha, D. Clemência fez avançar uma das mãos, procurou-lhe a cabeça às cegas e acaricioulhe tímida e desajeitadamente a face.
Todos os homens que velavam o morto tinham as suas paixões, as suas angústias, as suas grandes e pequenas alegrias e esperanças. Estavam ali conversando coisas fúteis em voz abafada, mas pensavam principalmente no ano novo que entraria no dia seguinte. Alguns davam um ligeiro balanço nas suas vidas; refletiam sobre seus problemas, suas dificuldades, suas pequenas vitórias, seus pequenos ou grandes dissabores ou alegrias. Uns ainda amavam. Outros já haviam conhecido todas as desilusões do amor; confessavam-se cépticos mas no entanto tinham uma ténue e secreta esperança nem eles mesmos sabiam em quê. Havia entre as quinze pessoas reunidas naquela sala, homens que desejavam posições de mando. Outros se contentavam apenas com um modesto emprego que lhes garantisse o pão de cada dia. Um moço magro julgava-se um grande poeta: sonhava com a publicação dum livro e com a glória. Outros tinham mágoas com raízes em questões de dinheiro e saúde. Até aquele sujeito encurvado e com ar de imbecil acariciava um grande projeto: comprar um cavalo alazão, pôr-lhe ricos arreios e sair pela cidade à tardinha, de pala de seda ao vento, esporas de prata, chapéu quebrado na frente, ”olhando para as morenas das janelas”. E como tinham todos desejos e ambições, aqueles homens alimentavam ainda esperanças. No meio deles só João de Deus estava sereno. Não sofria. Não desejava. Não esperava. Não odiava nem amava.
Estava morto. E talvez o papel de morto fosse o mais importante de quantos representara em sua vida obscura. Ao menos agora se falava nele em toda a cidade, talvez em todo o Estado. Só morto João de Deus conseguia ter a casa de novo cheia de visitas, como nos bons tempos em que sua família tinha prestígio e dinheiro. Como fazendeiro, fracassara: perdera a estância, o gado e o crédito. Como homem tivera aos vinte e seis anos uma decepção: fora recusado, humilhado pela mulher com quem quisera casar. Casara-se depois sem amor. Metera-se na política sem sucesso. Vira a família afundar-se numa decadência lenta e irremediável. Amara profundamente a filha e sofrera a angústia de não saber dar a esse amor a forma de carícias
- palavras ou gestos. Sempre fora seco e ríspido. E tinha a impressão de que se tentasse um afago havia de magoar Clarissa. Sua mão no entanto sabia acariciar o lombo dos novilhos, a cabeça dos cavalos e dos cachorros.
Aos vinte e quatro anos sentira-se tentado pela política. Tinha poucas letras. Suas leituras não iam além de maus romances de capa e espada. Começara por adorar Silveira Martins. Lia-lhe os discursos e gostava de citar as frases do Conselheiro que corriam pelo Rio Grande. Dizia com gosto, destacando bem as sílabas, num tom de discurso, ”Ideias não são metais que se fundem!” Às vezes se arrependia de não ter continuado os estudos. Podia ter-se formado em Direito. Teria um diploma de bacharel, que lhe facilitaria a carreira política. Mas qual! Era tarde. O que tinha de ser estava escrito. Cavalo do campo não bebe água em balde.
Outra de suas grandes paixões fora a vida do campo. Ficava doido de alegria quando se via no lombo dum cavalo, correndo pelas invernadas. bom domador, quando terminava uma doma, voltava para á casa da estância suado, sujo de terra, as mãos esfoladas, os olhos injetados. Mas vinha com um ar de triunfador, comia com vontade, sentia-se feliz.
A sua terceira grande paixão fora a prima Zuzu, filha da irmã de seu pai. Era uma moça de grandes olhos castanhos e braços carnudos, orgulhosa como todos os Albuquerques. Tinha algo de romântica, lia em voz alta para a mãe romances antigos em que havia um cura muito bondoso, um mancebo pobre, uma moça com vocação para freira e um sujeito mau e vingativo. Chorava nas passagens tristes. Mas para enfrentar a vida real tinha uma coragem e uma energia que assombravam.
João de Deus viu nela uma boa esposa. Sua paixão não tinha nada de lírica. Ele sonhava com uma ”boa dona de casa”. Imaginava-a com aquelas belas mãos a encher linguiça, a fazer queijo, a ordenhar as vacas. Reconhecia também nela uma fêmea forte e apetitosa. Desejava-a. Aquilo era amor? Então ele estava apaixonado. E a paixão foi crescendo. João de Deus não era homem de meio-termo. Sempre dizia: ”Comigo é oito ou oitenta”. Acariciou por algum tempo a ideia do casamento. Dava presentes a Zuzu. Não tinha jeito para declarações. Um dia lhe perguntou de chofre:
- Zuzu, eu gosto de ti. Queres casar comigo? A prima fitou nele os olhos aveludados.
- Que bobagem é essa, João de Deus? Esperava tudo, menos aquela declaração brusca.
- Estou falando sério. Gosto de ti. Por que não nos casamos?
Zuzu soltou uma risada:
- Ora, deixa disso! Que ideia mais boba.
João de Deus ficou aniquilado. Não estava habituado a ser contrariado. Quando queria domar um potro, domava mesmo. Quando queria carnear um boi, carneava. Tinha peões: e os peões lhe obedeciam. A recusa de Zuzu deixouo atordoado. Ficou abatido durante vários dias. Depois do abatimento veio o despeito. Começou a evitar a prima, que sorria ao vê-lo sério e carrancudo.
O tempo passou. A casa do velho Olivério Albuquerque, pai de João de Deus, era uma espécie de hotel. Vivia cheia de hóspedes. Muitas vezes o bom homem dava casa e comida para os desamparados. Recebia sob o seu teto até estranhos. Um dia botou para dentro de casa um estrangeiro, um italiano. Chamava-se Álvaro Bruno. Estava doente, com febre tifóide, atirado num hotel de segunda ordem, sem recursos nem amigos. O velho Olivério chamou o médico da família e disse:
- Cuide dele, doutor, como se’fosse pessoa da minha família.
O médico lutou com o doente. O italiano era moço e forte, seu organismo reagiu. O perigo passou, veio a convalescença, o doente ganhava cores, engordava. E um dia todos viram com surpresa que era um belo homem. Alegre e barulhento, gostava de dançar e cantar. À noite contava histórias de sua vida aventurosa. Viera da Itália com uma companhia de operetas que se dissolvera no Rio. Saíra depois como empresário dum prestidigitador. Finalmente resolvera correr o Brasil sozinho, pintando retratos a óleo. A gente do casarão escutava-lhe as histórias. E o velho Olivério dizia sempre:
- Você é das Arábias, seu moço.
E ria a sua risada bondosa, sacudindo a cabeça com simpatia.
Pela primeira vez em sua vida, Zuzu encontrava um homem que a impressionava. De alguma forma Álvaro se assemelhava àqueles ”mancebos” dos romances. Era estrangeiro, conhecera a Europa, tinha um lindo bigode sedoso, uma fala macia, quente e.musical. E com que expressão cantava as suas cançonetas napolitanas!
Álvaro foi-se deixando ficar no casarão. Pintou o retrato do velho Olivério. Estava são e forte mas não falava em ir embora. No fim, era como se já fosse um membro da família. João de Deus, entretanto, não o via com bons olhos. No fim de contas ali estava um estranho, um estrangeiro. Ninguém lhe conhecia a vida. Podia ser um santo mas também podia ser um canalha.
Um dia estourou a novidade, deixando todos abalados.
Álvaro pedira ao velho Olivério a mão de Zuzu. Todos acharam aquilo um desaforo. Chamaram a moça e ficaram de boca aberta quando, de cabeça erguida e voz firme, Zuzu enfrentou o velho tio e os primos e declarou que gostava do italiano e queria casar-se com ele.
Foi como se tivesse morrido de repente uma pessoa da família. Os Albuquerques botaram luto na casa. O velho Olivério procurou convencer Álvaro:
- Você é de outra raça, de outra gente, não conhece os nossos costumes. Vai fazer a infelicidade da menina e vai ser também infeliz. Ela está acostumada a esta vida, nunca passou trabalho...
O italiano não se deixou convencer. Zuzu bateu pé.
E o casamento saiu, na maior intimidade, sem convidados, sem festa.
João de Deus abafou a sua raiva. Se não fosse o escândalo, daria uma sova no gringo. Aquilo era uma vergonha. Encafuou-se na estância e passou três meses sem vir à cidade.
O velho Olivério deu dinheiro a Álvaro para ele estabelecer um atelier fotográfico e o casal foi morar» em Porto Alegre. Nasceu-lhes um filho - Vasco. E quando em Jacarecanga toda a gente pensava que Zuzu vivia muito feliz (ela era orgulhosa, quando escrevia mentia que estava num paraíso) receberam a notícia de que Álvaro fugira, ninguém sabia para onde, deixando a mulher e o filho pequeno sem recursos.
Depois de muita relutância, e só quando se viu sem um vintém, Zuzu voltou para a casa da mãe. Foi recebida carinhosamente por todos, menos por João de Deus, que não quis nem vê-la.
Passou-se um ano. Um dia encontraram Zuzu estendida na cama, rija, fria, lívida. Tinha tomado cianureto. Estava morta.
João de Deus não chorou a morte da prima. Ainda lhe doía a velha ferida. Ele sabia amar mas também era constante no ódio. Nem foi ao enterro.
Quando voltou para a estância, procurou esquecer tudo. Maltratava os animais, como se visse em cada cavalo, em cada boi em cada cachorro ou em cada porco a imagem odiada de Álvaro. Desejava encontrá-lo... Havia de amarrá-lo à cola dum cavalo xucro e soltá-lo no campo.
Num abril muito claro e transparente, o velho Olivério morreu. O casarão encheu-se de choro. João de Deus ficou com as responsabilidades de chefe da família. Achou que devia casar-se. Dentro dum ano tinha mulher. Não houve romance nem propriamente amor, apenas um arranjo em que intervieram os parentes. A lua-de-mel foi serena, sem alegrias desmedidas.
Em João de Deus porém, o sentimento de humilhação persistia. No filho de Zuzu que crescia, ele ia descobrindo traços dos pais. Os grandes olhos pretos da mãe. O ar meio aloucado de Álvaro. A rebeldia e o orgulho de ambos. E por tudo isso João de Deus não podia deixar de querer mal
Um Lugar ao Sol ao pequeno. Tentava reagir contra esse sentimento absurdo, procurava convencer-se de que Vasco não tinha culpa... Mas a aversão era invencível. João de Deus sentia prazer em repreender o menino, a propósito de tudo e a propósito de nada.
Os anos passaram. O tempo fez que João de Deus esquecesse Zuzu e a humilhação a que ela o sujeitara. Mas já então não era mais possível uma reconciliação com Vasco.
Veio a crise da pecuária. João de Deus teve prejuízos enormes. Tentou reajustar os negócios. Novo fracasso. Os irmãos não o ajudavam. (Tinham falido com a casa de comércio.) Os prédios da família foram aos poucos sendo entregues aos credores hipotecários.
Perdida a estância, João de Deus sentiu-se como um rei sem trono nem reino a amargar no exílio. Tinha energias acumuladas e precisava
dar-lhes emprego. Sabia laçar, domar, marcar o gado, curar bicheiras, parar rodeios, tropear... Na cidade, porém, via-se de mãos amarradas. Não encontrava trabalho digno de homem e homem que um dia fora senhor de vastas terras. Deixava-se ficar no casarão (o último reduto da família, a casa em que haviam nascido todos os Albuquerques, inclusive o velho Olivério) sem fazer nada. Os credores lhe batiam à porta. O armazém da esquina cortou-lhe o crédito. Nos últimos tempos era Clarissa que com o seu ordenado de professora fazia a maior parte das despesas da casa, ajudada pela mãe, que costurava para fora. João de Deus sentia-se humilhado. Um homem grande e forte ali inerte, como um índio vadio, enquanto a mulher e a filha mourejavam... Precisava fazer alguma coisa. E como não encontrasse outra válvula de escape para as suas energias, meteu-se na política. Ia vencer-se a hipoteca do casarão e ele não tinha dinheiro para resgatar a dívida. Os amigos (amigos?) lhe fugiam. Entregou-se, pois, à política. Mas entregou-se-lhe de corpo e alma, como um desesperado. Em Jacarecanga a luta estava travada. O partido da situação queria reeleger o prefeito. O da oposição apresentava um candidato popular. João de Deus tinha uma velha inimizade com o prefeito. Não teve dúvidas...
Começou a usar no pescoço um grande lenço vermelho berrante. Ia aos comícios e aplaudia os oradores. Saía com as caravanas que iam fazer propaganda nas colônias e outros distritos do município. E era com um prazer quase feroz que ele aceitava o revólver, carregava-o e punha-o no coldre sempre que saía nessas andanças políticas. Se houvesse baderna, tanto melhor. Estava disposto a tudo. Idéias não são metais que se fundem.
- Clemência olhava aqueles entusiasmos com pessimismo.
- João de Deus, larga a política, tu vais te incomodar. Política nunca deu nada pra ninguém.
O marido respondia com azedume. Exaltava-se, ameaçava derrubar o prefeito. Pensavam que ele não tinha coragem? Achavam que seu topete tinha caído, só porque ele estava pobre? Não, senhores! com um Albuquerque eles haviam de roer um osso duro!
E João de Deus ha luta se sentia feliz. Passara a frequentar cafés. Metia-se em grupos que discutiam política. Coisa que jamais fizera. Fazia as vezes de cabo eleitoral, ajudava a distribuir boletins de propaganda, agitava-se. E nessa tarefa um tanto arriscada ele sentia o mesmo prazer másculo que lhe dava a doma dum potro bravo. E assim embriagado de atividade, esquecia a sua desgraça, a desgraça de sua família. Esquecia o irmão que morrera num sanatório de Porto Alegre. Esquecia o outro irmão perdido que arrastava a sua pobre vida, a beber, a beber, a beber...
Vieram as eleições. O prefeito fazia vagas ameaças, cercava-se de capangas. Mandou buscar em Soledade um tal Zé Cabeludo. Quando o caboclo chegou, houve sensação na cidade. Era um tipo bronzeado, de cara larga, vastos bigodões de guias caídas; tinha uma cabeleira longa, quase feminina que formava na nuca uma espécie de prateleira. Zé Cabeludo passeava pelas ruas de Jacarecanga como numa exibição de força. Arrastava as esporas, que tilintavam, jogava o pala num gesto atrevido para cima dos ombros e deixava bem à mostra os dois grandes revólveres.
No dia da eleição João de Deus andou dum lado para outro, num Ford de modelo antigo, a conduzir eleitores. Era o mais entusiasmado dos cabos eleitorais. Na véspera do pleito escrevera e publicara em boletim, artigo violento contra o prefeito. Escrevia mal, mas era um mestre na arte de insultar. Sabia dizer desaforos como ninguém. O artigo feriu fundo. Toda a gente temeu o encontro dos inimigos. ”Vai correr bala” - dizia-se.
Passaram-se as eleições. A vingança do prefeito não tardou. Um dia Clarissa recebeu a notícia de que tinha sido transferida para o grupo escolar de Santa Clara. Foi um choque. Santa Clara ficava no fim do mundo: era um povoado esquecido de Deus. Clarissa perdeu a fala por um instante. D. Clemência sentiu um nó na garganta. João de Deus ferveu de raiva, pegou o chapéu e saiu como uma bala.
Foi à prefeitura. Passou pelos guardas armados, impávido. As pessoas que estavam no saguão miravam-no, de boca aberta. Alguns saíram às pressas, à passagem daquele homem moreno e forte, de feições duras, bigode eriçado e cara contorcida pelo ódio.
- Epa, moço. Aonde vai?
O secretário do município tentou detê-lo. João de Deus empurrou-o com violência.
- Sai, capacho!
Abriu brusco a porta do escritório. O prefeito ergueu os olhos e ficou espantado. Balbuciou uma palavra.
João de Deus estava parado diante dele, com o Chapéu na cabeça. Uma gosma grossa e quente lhe amargava a boca, dificultando-lhe a palavra, ardendo-lhe na garganta. Despejou:
- Seu patife, cafajeste, canalha, filho duma grandessíssima...
Cresceu para o prefeito e ergueu o punho fechado, mas foi agarrado com força por dois homens que entraram naquele momento. João de Deus fez um esforço tremendo para se libertar. Sentiu que o arrastavam. Esperneou, cuspiu palavrões.
- Me larguem, canalhas! Me larguem! Jogaram-no na rua.
Junto do bureau, sempre sentado e um tanto pálido, o prefeito ficou olhando para a porta aberta. Tinha a cara descarnada, comprida e um bigode ruivo que lhe caía pelos cantos da boca de lábios carnudos, muito vermelhos. Seus olhos eram dum cinzento metálico e frio; iludiam: davam as vezes a impressão duma inocência infantil. E eles agora estavam olhando quase com candura para o secretário que o interrogava com os olhos, muito branco.
- Pois é pra você ver, seu Balduino - disse ele com voz descansada. - Fui agredido. Depois dizem que sou bandido... Vocês são testemunhas. - E sem mudar de tom: - Pode ir embora. Feche a porta.
Sozinho, ergueu-se. Era um homem alto, de largos ombros ossudos. Aproximou-se da janela, acendeu tremulamente um cigarro. Ficou a contemplar a rua através da vidraça. Fechou o olho direito. E o esquerdo teve de repente um brilho frio e mau.
E agora ali estava, coberto de flores, o corpo sem vida de João de Deus. Das suas lutas, dos seus desaforos, dos seus heroísmos, das suas fraquezas, das suas paixões, do que havia feito de bom ou de mau - só restava alguma coisa na memória dos que o haviam conhecido. com o tempo as lembranças se iriam descolorindo. E sua vida ficaria resumida no epitáfio breve que iam deixar na sua sepultura. Um nome e duas datas.
Às onze horas, muitas das pessoas que estavam no velório se retiraram. Queriam estar em suas casas à hora em que o ano novo ia entrar.
Olhavam para o cadáver, como para pedir desculpas. E iam saindo sem fazer barulho, como quem foge.
Havia já meia hora que Vasco caminhava sem destino. Seguia pelas ruas mais escuras, e menos movimentadas. Cantavam galos nos quintais.
Vasco levava agora uma vontade doida de viver. Sentia o defunto cada vez mais longe. No entanto aquele olho esmigalhado e sangrento o acompanhava. Só o olho sem o corpo. Como fugir?
As janelas iluminadas duma casa derramavam música na noite. Dançava-se lá dentro. Uma moça veio até a janela cantando, olhou para fora um instante e depois se sumiu.
Vasco sentiu um súbito desejo de entrar correndo naquela casa, abraçar uma rapariga (a mais moça, a mais forte, a mais bela!) e sair dançando com ela, rodopiando como um pião, peito contra peito, coxa contra coxa. Sim, ele agora queria fazer alguma coisa que fosse o oposto da morte. Estava saturado de fantasmas. Tinha a memória povoada de cadáveres. Sim. Jovino, o bêbedo, era um cadáver também: caminhava, falava, chorava ou ria, mas estava morto. Era preciso esquecer os mortos, era imprescindível que viessem ao mundo mais criaturas, para que a humanidade se renovasse. Talvez nascessem homens melhores. Talvez...
Vasco caminhava sempre. Não lhe saía mais da memória a voz fresca cantando à janela. A rapariga devia ser bonita. Pela voz se via... Imaginava um rosto corado, de olhos vivos. Olhos. O olho de João de Deus.
Dobrou uma esquina. Conhecia aquela rua. Um nome lhe veio à mente: Gogó. Apressou o passo. Já agora ninguém mais o deteria. Nem os mortos, nem os vivos. Ia quase correndo. Não tinha direito à vida? Não tinha direito ao prazer? Bateu numa porta. Uma janela abriu-se e uma cabeça espiou para fora.
- Quem é?
- Sou eu. O Vasco. Abra a porta, Gogó.
Meio minuto de espera. Vasco estava inquieto, batia com o pé na calçada, sentia o rosto em fogo. A porta se abriu. Gogó estava de roupão vermelho. Vermelho: sangue. O olho de João de Deus.
A rapariga ficou olhando para o rapaz como se o visse pela primeira vez.
- Oh . . . meus pêsames - gaguejou. Vasco entrou sem gesto, sem palavra.
Prendeu Gogó com fúria num abraço violento e beijoulhe a boca.
- Que é isso, homem?
Gogó sabia que Vasco tinha defunto em casa. Aquilo era quase uma profanação. O rapaz não respeitava nem o luto. Estaria bêbedo?
- Vamos... - sussurrou-lhe ele ao ouvido. E seu hálito queimava.
Vasco sentia-se febril, as têmporas latejantes. Mas estava contente. Aquilo era vida. Vida!
Gogó forçou um sorriso. O ”nego” estava louco? Que era aquilo? Assim tão ligeiro, como ”quem ia p’ras pitangas”?
Vasco não explicava... Empurrou a mulher para o quarto, para a cama. Amou-a com violência.
Depois, exausto, com uma sensação de refrescamento e alívio, ficou deitado de braços abertos, olhos cerrados, respirando profundamente. Gogó se ergueu e recomeçou a sua toilette interrompida. Ia sair, queria divertir-se, era noite de Ano bom. Havia um fervo na pensão de siá Dica.
Quando terminou de se vestir, olhou para a cama e viu que Vasco dormia a sono solto. Apagou a luz e saiu na ponta dos pés. No corredor chamou baixinho:
- Tunga! Ô Tunga?
Apareceu uma mulher gorda de cara oleosa.
- Aí no meu quarto tem um homem dormindo. Deixe ele quieto. Quando for embora, passe a chave na porta.
E se foi.
Jesus levava João de Deus pela mão. O olho de Jesus sangrava e ao redor daqueles dois vultos tudo estava, escuro. Era uma floresta. As árvores não eram propriamente árvores e sim grandes braços peludos (Cabeludo - viu o Cabeludo de pala, correndo, o Cabeludo). Depois João de Deus caiu e Jesus ergueu-o nos braços. Era um milagre. O Jesus pequeno de prata, o Jesus do crucifixo levava no colo o corpo enorme de João de Deus. Havia choro e soluços, e o mais aflitivo era que não se via de onde vinham. Jesus não era mais Jesus, mas sim João de Deus que carregava Deus no colo. E agora o Cabeludo os perseguia com dois revólveres. E Jovino chorava e rolava no chão como uma pipa, porque ele era uma pipa de vidro, vidro verde, garrafa, garrafa de cachaça. João de Deus deixou cair o corpo de João de Deus. Cabeludo chegou e viu que João de Deus tinha sete olhos para furar. Então começou a despejar tiros.
Vasco acordou ouvindo os tiros. Ficou com o espírito metade mergulhado ainda no sonho, metade emergindo para a realidade. Olhou em torno do quarto escuro. Onde estava? Não compreendeu no primeiro momento. Tiros lá fora... Gritos... Debateu-se por alguns segundos, perdido num nevoeiro. Depois foi aos poucos recordando... Saltou da cama, abriu a janela. Tiros perto e longe. .. Os sinos da Matriz badalando . .. Apitos de locomotivas .. . Galos alvorotados nos quintais , .. Vozes humanas . .. Sim, agora compreendia. Era meia-noite. Entrava um ano novo.
Vestiu-se, molhou o rosto e a cabeça, saiu.
Estava sereno, mas com uma grande vontade de chorar. Continuou a caminhar à toa. E sem que ele mesmo percebesse, seus passos o afastavam cada vez mais do casarão.
Ia pensando em Clarissa. Tinha pena dela. Que iria ser da pobre menina, transferida para Santa Clara, para o fim do mundo? Decerto ia passar trabalhos em terra estranha, sem amigos. .. Por que toda aquela desgraça, toda aquela sujeira? Por quê? - gritou em voz alta.
Olhou para o céu. Sua pergunta perdeu-se na noite. As estrelas continuavam caladas.
De repente Vasco sente-se desamparado e impotente para lutar com a sorte. O desejo que tem é de ficar deitado sem falar, sem se mover e esperar assim que a vida role ...
Um vento fresco bate-lhe no rosto. Vasco chega ao fim da rua. Ali adiante começa o campo. Ele ama o campo aberto. A vista pode passear longe. Não há no escampado aquela angústia que o mato dá, nem a sensação de limite e impotência que vem das montanhas.
E, com a ilusão de que aquilo é uma fuga, uma libertação, Vasco corre para o campo, para o alto da primeira coxilha. Dali ele enxerga Jacarecanga, o casario branco, as torres da igreja, os quintais escuros de árvores e sombras.
Respira forte. Deita-se no chão, de costas, e fica de braços abertos, como que crucificado à terra.
Aos poucos lhe volta a lucidez, uma grande, uma límpida e maravilhosa lucidez. E à medida que o tempo passa
- será a companhia das estrelas? - suas ideias vão ficando cada vez mais claras. E todo o pavor lhe desaparece da alma. Ele agora parece tudo compreender.. . Enxerga nitidamente o passado. Tem a impressão de que daqui a alguns minutos seus olhos e a sua mente estarão de tal modo agudos e limpos que ele poderá ver o rosto de Deus por entre as estrelas.
O vento fresco e sem voz... O silêncio... A noite... E aos-olhos do espírito de Vasco todos os fatos, todas as pessoas e todas as coisas aparecem neste momento numa perspectiva clara. Não há mais mistura, não há mais emaranhamento, não há mais cerração. Tudo é límpido como a luz do luar, como a água do arroio que corre lá embaixo. Os mortos se juntam aos mortos. Os cadáveres que ainda se -movem e falam e pensam, formam um grande rebanho que se arrasta para a morte definitiva. Clarissa foge da procissão dos mortos e caminha para ele. Clarissa é diferente. Ela, sim, é que tem o seu sangue, é de seu mundo. Pará ambos ainda há esperança de salvação. Os outros estão perdidos. Tentar salvá-los é arriscar atolar-se no lodaçal para sempre.
E a lucidez mágica continua. Vasco, crucificado, espera. Seus olhos se vão fechando devagarinho. Um grande bem-estar lhe invade o corpo. Sente Clarissa estendida ali no campo a seu lado. E ela também é lúcida. E os dois agora vão descobrir juntos os mistérios do céu.
Vasco prepara-se para o grande momento. Mas dorme.
Quando voltou para o casarão era madrugada e só havia quatro pessoas no velório. Perto do defunto estava um soldado negro. Vasco reconheceu-o, aproximou-se dele e pôs-lhe a mão no ombro. O soldado se voltou e abraçou-o com intimidade.
- Como vai, Gato-do-Mato?
- Como vai, tição?
Ficaram em silêncio um instante. Depois Vasco convidou o amigo para saírem. Foram para o pátio. A noite estava fresca. Galos amiudavam.
Sentaram-se debaixo da velha figueira. Tinham sido companheiros de infância. A vida depois os separara. Xexé aparecia às vezes no casarão. Sentara praça, vivia a sua vida. Ultimamente andava arredio.
Ficaram longo tempo em silêncio. Foi o negro quem começou:
- Barbaridade - disse ele, brincando com o quepe. Sua voz era rouca e áspera.
Vasco sacudiu a cabeça. Falaram do prefeito. Falaram no capanga. Toda a gente falava. Toda a gente acusava o prefeito.
Xexé murmurou:
- Muito pontapé ele me deu, muito bofetão. Mas eu gostava do seu João de Deus.
Vasco não encontrava palavras. Xexé levou a mão ao bolso traseiro das calças e tirou dele um revólver.
- Tá vendo isto? Comprei num ferro-véio. Engraxei, botei bala. - Parou. Segurou o pulso de Vasco, nervoso.
- Vasco, si ocê quê eu liquido o perfeito, meto um caramelo no miolo daquele fio da mãe.
Falou agitado, bem perto do amigo. Vasco sentiu na cara um hálito de cachaça:
- Você andou bebendo, negro. Xexé insistiu:
- Si ocê quê eu mato aquele fio da mãe.
E apontou o revólver para a paineira serena.
- Xexé - disse Vasco com calma - por que é que você bebe?
O outro parecia não escutá-lo:
- Quando ele sai do clube de noite eu espero ele atrás duma árvore e quando ele passa... Pei!
Seus olhos brilharam de ódio.
- Não paga a pena, Xexé. Não adianta nada. Você só tinha a perder...
- Que me importa? - gritou o negro. - Que me importa?
A noite engoliu suas palavras. Xexé cuspinhou.
- Por que é que você bebe, negro sem-vergonha?!
- Bebo porque sou um canaia...
- Deixe de besteira. Você bebe porque não tem força de vontade. Se você fosse um negro direito, estudava, caprichava, cavava umas divisas de cabo ...
- Só ruim.
Silêncio. Vasco sofria. Sempre vira em Xexé um moleque excepcional. Era um negro ”diferente”. Podia, se quisesse, ser alguma coisa na vida. Mas era outro que também estava morto e não sabia.
- Deixe a bebida. O soldado suspirou.
- Não adianta. Sou um bandido.
com voz baixa, temendo que as árvores, as pedras e a terra daquele pátio onde brincara em criança ficassem sabendo da sua desgraça, contou:
- Eu não presto, Vasco, ocê não sabe. Ocê se alembra quando eu botava sal nas lesmas pra vê elas se desmancha e se torce?
- Me lembro.
- Ocê se alembra das borboletas que eu espetava com alfinete, dos passarinhos que eu cortava as penas com tesoura? Pois é. Não sei o que é que eu tenho. Gosto de fazer os bichos sofrer. Gosto. E o pior é que não é só com bicho...
Xexé começou a chorar baixinho. As lágrimas escorriam-lhe pela cara parda. Os soluços agitavam-lhe os ombros ossudos.
- Que é isso, rapaz?
- Eu surrava na minha mãe e agora ela está morta. Vasco sentiu a voz presa na garganta. O choro do preto redobrou. A paineira continuava serena.
- Eu não presto, Gato-do-Mato. Queria me endireita mas não podia. Surrava na pobre da veia e agora ela está no sumintério.
Gato-do-Mato passava a mão pelos cabelos. Aquelas palavras lhe doíam.
- Eu queria me esquece das minhas marvadeza e então dei pra bebê ...
Guardou o revólver devagar. Novo silêncio.
Vasco viu de repente o pátio iluminado pelo sol da infância. Xexé pulava e ria, trepava nas laranjeiras, ia comprar rapadura na venda, inventava travessuras.
O sol se apagou. Para sempre. Para nunca mais voltar.
Agora o negro chorava. Estragara a vida. E a vida não podia ser passada a limpo como os exercícios da escola do seu Braga.
No entanto o pátio, as pedras, as árvores, o muro, o casarão - nada parecia ter mudado. E todos os outonos a paineira dava flores novas.
Os dois amigos ficaram ali em silêncio, uma, duas, três horas . .. Viram o dia clarear.
Entravam no ano novo carregando os seus defuntos.
CAPÍTULO SEGUNDO
A luz esbranquiçada da manhã reverberava nos muros e nos túmulos caiados. O cortejo parou à frente do grande jazigo de mármore branco. Colocaram o caixão aberto em cima de dois mochos. Alguns senhores trocaram palavras em voz baixa; depois olharam em torno, procurando. O silêncio era aterrador. Um homem deu dois passos à frente. Vestia fraque preto e o seu rosto tinha uma palidez esverdeada. Todos os olhos se voltaram para ele. (Menos os do morto: o esquerdo era um buraco esponjoso e escuro por baixo da gaze; o direito estava aberto fitando o céu com uma pavorosa falta de expressão.) O homem lívido contemplava o cadáver e parecia ter perdido a voz. Ficou assim agoniado um segundo. Depois as palavras lhe foram saindo, secas, baças, aos pedaços, como que arrancadas com tenazes.
- Falo... em nome... da... dos... teus companheiros. .. de... luta política. - Fez uma pausa. O suor lhe escorria pela cara. Aquele homem sofria. - João de Deus Albuquerque! - Outra pausa. E de repente as palavras jorraram numa torrente nervosa: - A mão vingativa dum sicário te abateu da maneira mais traiçoeira e abominável!
Alguns homens choravam. Outros sorriam por dentro. A maioria simplesmente escutava. Nos plátanos da aléia central do cemitério os tico-ticos agora cantavam e o seu canto tornava aquele ermo ainda mais melancólico.
- Lutador que foste... - continuou o orador, que dominava pouco a pouco os nervos - ... tiveste a morte violenta daqueles que ousam enfrentar os potentados ...
Entrincheirado atrás duma cruz de granito róseo, Vasco olhava e escutava. Sentia o corpo mole, a cabeça dolorida. Não podia esquecer a cena. À hora da despedida, Clarissa abraçada ao caixão, chorando em desespero e D. Clemência, com os olhos secos e a cara macilenta, a contemplar o rosto do marido com uma fixidez doentia. E agora ali estava aquele homem de fraque a dizer palavras vazias. Tinha decorado um discurso e repetia-o como um papagaio. Suas palavras se diluíam no ar, fundiam-se com a claridade da manhã, sumiam-se sem eco. Era como se jamais tivessem sido pronunciadas. Valiam menos que a algazarra dos tico-ticos.
- Companheiro, a justiça de Deus não falhará - garantia o orador, apontando para o alto - mesmo que falhe a justiça imperfeita dos homens!
Vasco ergueu os olhos e viu um céu iluminado, igual, sereno, distante, dum azul impossível de cartaz, um céu que parecia ignorar o que na terra havia de sofrimento e sordidez.
Como estava horrenda a cara do morto ao sol! Vasco como que viu, nítida, a decomposição, a vida nova e pululante que começava no corpo de João de Deus, a vida que se alimentaria de sua carne, de seus nervos, de suas vísceras.
Desviou os olhos, esqueceu o orador, leu ao acaso inscrições de túmulos. Saudades eternas de teus pais. Descansa em paz. Nascido em 1887 - Falecido em 1904. Notou que a vida rebentava daquela terra adubada com cadáveres. Nasciam ervas em torno das sepulturas pobres. Nos túmulos e jazigos mais ricos cresciam roseiras e trepadeiras. Uma grande árvore erguia-se para a luz: suas raízes tentaculares apareciam à flor da terra, começando já a abalar os alicerces dum mausoléu. No chão vermelho abria-se um buraco para onde entravam e de onde saiam grandes formigas pretas e atarefadas, em duas linhas sinuosas que se perdiam por entre cruzes, lajes e montículos de terra. A folhagem dos plátanos era dum verde alegre e fresco.
O orador perorou. Ouviu-se um murmúrio, um breve rosnar confuso que tanto podia ser de aprovação como de censura. Os homens que pareciam os donos do enterro fecharam o caixão e carregaram-no para dentro do jazigo.
De novo os parentes do morto começaram a receber abraços de pêsames.
Vasco fugiu para o fundo do cemitério.
Encontrou Xexé diante do túmulo da mãe. O negro chorava. Sua cara pretusca reluzia ao sol. O suor pingava-lhe da testa, misturando-se com as lágrimas. Sua túnica tinha manchas escuras de suor nas axilas.
Vasco parou junto do amigo. Ficaram em silêncio durante algum tempo. Depois Xexé disse com voz sentida:
- Eu surrava nela...
Saíram a caminhar por entre as cruzes. Num dos túmulos maiores, um Cristo de granito negro sorria meigamente levantando uma das mãos para o céu. Mais adiante havia um jazigo avantajado em cujo frontão um anjo de bronze, simbolizando a Ressurreição, se erguia dum esquife, com as asas estendidas. Um pica-pau fizera o seu ninho no ombro do querubim de pedra que montava guarda à porta duma sepultura menos pomposa.
Xexé e Vasco caminhavam calados. Os tico-ticos pipilavam. O sol se fazia mais amarelo e quente.
Chegaram ao jazigo onde haviam entaipado João de Deus. Já não se via mais nenhum dos acompanhantes do enterro. O zelador do cemitério fechava a porta.
- Espere, moço! - gritou Vasco.
O zelador reconheceu-o. Vasco entrou no jazigo, seguido do preto. Lá dentro a sombra era fresca. Cheiro ativo de flores, coroas amontoadas a um canto. No altar de N. Senhora da Conceição, duas velas ardiam.
Vasco viu retratos de parentes mortos. Ali estava a velha Henriqueta, avó de Clarissa, sorrindo para o fotógrafo; decerto tirara aquele retrato num dia feliz de sua vida. Ao lado dela, a cara serena e bondosa do velho Olivério. Um quadro de moldura dourada cercava a cabeça romântica de Cristóvão, o irmão mais moço de João de Deus. Diziam que fazia versos e era triste. Um dia encontraram o seu corpo boiando numa lagoa. Fora o primeiro suicídio da família ...
Vasco olhava dum retrato para outro. As chamas das velas criavam sombras naquele interior sombrio. O cheiro das flores lembrava o morto recente, era uma reminiscência do velório, dava náusea.
Os olhos de Vasco se detiveram no retrato de D. Zezé. Ele não podia reconhecer a avó naquela moça de vinte e oito anos, que a fotografia apagada lhe mostrava. Pensando na velha, tornava a ouvir-lhe a voz ciciante e macia: ”Não se resfrie, menino... Este diabinho ainda me mata... Não seja travesso, me obedeça... Qual! É orgulhoso como a mãe!”
Por fim Vasco olhou para o retrato que até então evitara. A princípio só teve consciência de dois olhos pretos, muito graúdos, a dominarem o quadro. Depois viu todo seu rosto tristonho e orgulhoso, a testa larga, a boca decidida. O penteado e a blusa de golinha alta eram de 1913. Vasco contemplava o retrato e repetia mentalmente: Zulmira-, Zulmira, mamãe, mamãe, Zuzu. Não tinha a menor lembrança dela. Conhecia-a só através daquela fotografia, duma imagem que se achava distante daquele momento mais de vinte anos. Sempre lhe contavam em casa coisas da mãe: palavras, hábitos, predileções, manias... Mas tudo isso lhe soava como histórias de fadas. Era como se estivessem falando em seres fantásticos como o Pequeno Polegar, a Bela Adormecida... Sim, sua mãe sempre lhe parecera a Bela Adormecida. ..
Mas o que ele agora sentia diante do retrato era uma funda e trêmula ternura, um desejo de esquecer que ela estava morta, a ânsia de acreditar na possibilidade d« projetá-la de novo na vida por meio da imaginação, dar-lhe uma existência clara, limpa, ideal, roubando-a ao retrato amarelado, ao ano para sempre perdido de 1913, ao horror irremediável da morte. Precisava esquecer também o suicídio, apagar da memória a figura daquela mulher de corpo inteiriçado e rosto contraído, segurando nos dedos hirtos o vidro de veneno. Oh! Não lhe deviam nunca ter contado ”aquilo”!
No entanto, dentro do jazigo, na sombra doentia, respirando aquele ar que cheirava a cera derretida e a flor, Vasco não podia dissociar a imagem da mãe da ideia de morte e decomposição.
Relanceou de novo o olhar pelos outros retratos. E da fusão daquelas fisionomias todas obteve resultados singulares. Viu Clarissa e se viu a si mesmo na soma daqueles olhos, testas, expressões fisionómicas. Era um jogo misterioso e inquietador. E por algum tempo ficou a olhar dum retrato para outro. Por fim fixou o olhar na imagem da mãe, dominado outra vez pelos olhos escuros.
Sim. Precisava ressuscitar aquela morta, amá-la de verdade, com calor, como se ama uma criatura viva e não com a afeição inconsistente e morna que a gente tem pelas figuras de lenda. Precisava libertar a mãe do jazigo da família, arrebatá-la à morte, ao tempo, ao esquecimento e à decomposição.
De repente sentiu um amolecimento interior e as lágrimas lhe brotaram nos olhos. Fazia anos, anos que não chorava. Procurou conter-se, fez um esforço desesperado.
Xexé murmurou:
- Bamo, Gato-do-Mato?
Vasco saiu. Enxergava as coisas através dum nevoeiro. Estava constrangido. Procurou uma desculpa:
- Estava um ar desgraçado lá dentro. Aquelas velas, aquelas flores, ardem nos olhos ...
Xexé não disse palavra. Saíram do cemitério e desceram para a cidade.
Ao se aproximar do casarão Vasco sentiu uma vaga sensação de medo. Preferia não entrar. Lá dentro decerto prevalecia a mesma atmosfera do jazigo: cheiro de morte, lembranças tristes, retratos de defuntos, e gente viva saturada de sofrimento.
Mas entrou. Encontrou no corredor a sombra e o silêncio. Subiu a escada com o coração batendo com força. A sala de jantar estava deserta. Insinuava-se por uma fresta da janela uma fita amarela de sol, que atravessava a mesa em diagonal e ia morrer ao pé duma velha cadeira.
Vasco ficou parado por alguns segundos. Nenhum sonido. Assim era melhor: o choro das mulheres tornaria a casa insuportável.
A porta do quarto de D. Clemência abriu-se de repente, enquadrando um vulto escuro. Vasco não pôde evitar um sobressalto.
O vulto aproximou-se dele sem ruído. Era Cleonice. Vinha com os olhos vermelhos de chorar. Falou num cicio:
- Dei um chá de folha de laranjeira pra Clemência. Mandamos chamar o Dr. Penaforte pra Clarissa.
Vasco franziu a testa e fez com o olhar uma pergunta aflita.
Subiram juntos para o quarto de Clarissa.
Atirada sobre a cama como uma coisa sem vontade, Clarissa olhava para as tábuas do teto com uma fixidez estúpida. Não tinha coragem para nada. Recusava alimentar-se. Esforçava-se por dormir, por esquecer. Outras vezes queria gritar ou chorar. Mas não podia. Ficava então imóvel, pensando, sofrendo, ruminando as impressões horrendas daquelas últimas quinze horas.
Quando a tia e o primo entraram ela sentiu, mais que viu, a presença deles; mas não fez o menor movimento.
Vasco aproximou-se dos pés da cama, segurou a guarda de metal com as grandes mãos fortes, e ficou olhando...
Clarissa estava muito pálida, e a palidez acentuava o negro de seus olhos oblíquos. (Lembravam os de Zuzu.)
Cleonice se inclinou sobre a sobrinha, passou-lhe a mão pela testa, perguntou-lhe de mansinho:
- Vamos tomar um chazinho?
Clarissa não respondeu. A outra repetiu a pergunta. Clarissa fechou os olhos, numa obstinação em que a vontade nem chegava a intervir.
Cleonice começou a chorar baixinho e saiu do quarto, fazendo ao rapaz um sinal: ficasse.
Vasco ficou. Teve vontade de sentar-se na cama, pegar da mão descorada, acariciá-la, dizer ao ouvido da prima uma palavra, mas uma palavra profunda, que não fosse oca nem inútil, que tivesse o poder de dar-lhe consolo, alívio e paz. Mas essa palavra simplesmente não existia. Ou, se existia, ele não a conhecia.
Permaneceu imóvel, onde estava, um, dois, três, cinco, dez minutos. ..
Ruído de passos na escada. Cleonice entrou trazendo uma xícara de chá numa bandeja.
Vasco subiu para o seu quarto, que ficava no sótão. Abriu bem as duas janelas para que entrasse o sol e o vento da manhã e atirou-se na cama. Mas ergueu-se em seguida. Tornou a deitar-se. E de súbito lhe veio à mente a imagem do prefeito: a cara fina e comprida de cavalo melado... Os bigodes ruivos de chinês, escorrendo pelos cantos da boca... Os olhos frios e cinzentos. A fala descansada, duma falsa doçura. ..
Ele tinha mandado matar João de Deus. O prefeito... No entanto estava vivo, estava livre, era feliz. Andava rodeado de capangas e aduladores. Jogava pôquer no clube. Ia às rinhas de galo, apostava, torcia, gritava, cuspia, ganhava, recebia o dinheiro das apostas, saia contente... Iam oferecer-lhe um banquete. Tinha ouvido falar... Haveria discursos, elogios ao homenageado. Palmas, vivas. Estouraria o champanha... E a cara de cavalo, os olhos frios, os bigodes caídos, a voz doce e vagarosa estariam lá no meio dos convivas, no meio da música, enquanto João de Deus apodrecia no caixão, a Clarissa sofria na cama...
O prefeito. O prefeito. O prefeito.
Vasco pôs-se de pé num pulo. Pegou um lápis e uma folha de papel, desenhou, rápido, a cara do prefeito, contemplou-a longamente, com um prazer perverso e depois rasgou o papel com raiva e jogou os pedacinhos pela janela.
Ao meio-dia o Dr. Penaforte chegou, examinou Clarissa, receitou e foi embora.
Ninguém quis almoçar. Vasco ficou no quarto onde o calor sufocava. Dormiu até às três. Acordou zonzo e empapado de suor.
Lavou a cara com violência: a água estava morna e viscosa. Tirou o casaco, aproximou-se da janela. O céu se cobria de nuvens escuras. Teve vontade de gritar. Pensou em sair. Mas para ir aonde? Tornou a deitar-se, sentindo o peito cheio de chumbo.
Aquilo era horrível. Precisava fazer alguma coisa.
O calor aumentava. A atmosfera estava carregada de eletricidade, o ar parado, dava uma impressão de véspera de catástrofe, proximidade de fim do mundo.
Vasco desceu a escada na ponta dos pés. Abriu de leve a porta do quarto de Clarissa e espiou... A prima dormia profundamente.
Desceu. No meio da escada, estacou. Ouvira um grito ou, antes, um uivo prolongado e plangente. Depois, o silêncio. Outro uivo. E outra vez o silêncio.
Ficou parado, com o coração a bater descompassado. Sentia-se acovardado e abúlico. Que se passava com ele? Sempre se tivera na conta de forte. No entanto agora...
Olhou para as próprias mãos: tremiam. Devia ser fraqueza. Não comia nada desde a véspera. Sim, era fraqueza. Sentia as pernas bambas.
Outro uivo. Vinha do quarto de Jovino. Que estaria acontecendo lá dentro?
Atravessou a sala de jantar e abriu a porta num repelão. No quarto de Jovino ardiam cinco velas, metidas em gargalos de garrafas. Estendido na cama, com o enorme ventre a subir e a descer compassadamente, o irmão de João de Deus uivava como um cão perdido na noite. Reunira os retratos de seus mortos, tirara-os das paredes da sala de visitas, depusera-os em ordem cronológica . . . Primeiro o retrato grande do bisavô, o Gen. Zé Pedro, com o seu uniforme de gala de botões e dragonas douradas, espada à cinta, ar marcial. Depois o busto da mãe. A cabeça do pai. Um retrato pequeno de Cristóvão. Uma miniatura de Zulmira. E ao pé de cada um dos quadros acendera uma vela. Rezava a meia voz as orações que sabia: misturava-as, mutilavá-as, entremeava-as de exclamações, palavrões, pragas ou simplesmente de nomes sem nexo, e de intervalo a intervalo soltava uivos dolorosos.
Vasco olhava. Custou-lhe compreender o que se passava.
Jovino procurava a companhia dos parentes mortos.
Devia estar bêbedo. Vasco aproximou-se da cama, inclinou-se sobre o primo. Subiu-lhe às narinas um bafio de cachaça.
De olhos fechados, mãos postas, Jovino rezava:
- Santa Maria, rogai por nós... ui!... na hora da nossa morte... infames canalhas... amém! João de Deus... rogai por nós, o pão nosso... mamãe... minha mãe... meu pai do céu, amém... uuuuuu!... patifes, eu mato esses patifes... Padre nosso que estais no céu... não tinha lágrimas de Sto. António, veio Parati... uuuuu...
Sua voz era pastosa, arrastada, difícil. Deixou cair o braço direito, procurando alguma coisa às cegas. Achou. Era a garrafa. Levou-a aos lábios e bebeu. A cachaça escorreu-lhe pelos cantos da boca, caiu-lhe no peito da camisa.
Vasco saiu do quarto angustiado, fugiu para o pátio.
Trovejava. As nuvens estavam pesadas e baixas. O céu ameaçava esmagar a terra.
Antes de voltar para sua casa, Cleonice mandou levar a ceia ao quarto de Vasco.
O rapaz comeu com voracidade. Devorou as batatas, a salada de alface, as fatias de tomate. Ia comer a carne mas lembrou-se do morto e afastou o prato com asco.
Caminhou até o espelho. Estava de barba crescida, olheiras arroxeadas, um ar cansado. Teve a impressão de que envelhecera anos naqueles dois dias.
A chuva começava a cair em gotas grossas. Vasco ficou olhando para fora. Era noite fechada. De sua janela via as luzes raras e baças da cidade. Sentiu uma tristeza profunda. Desceu. A sala de jantar estava deserta. Entrou no quarto de D. Clemência e encontrou-a sentada na cama, a olhar para um retrato do marido. Ao dar pelo sobrinho, ela ergueu os olhos. Ficaram ambos a olhar um para o outro, sem palavra. Vasco procurou algo para dizer. Não encontrou nada. De cabeça baixa encaminhou-se para a porta. D. Clemência ergueu-se e perguntou com voz machucada:
- Você jantou, menino?
Ele se voltou, brusco.
Enfim ouvia uma voz! Uma voz humana! Uma voz
- respondeu muito depressa, viva!
- Jantei, sim senhora! - respondeu muito depressa, numa explosão nervosa.
Outra vez o silêncio.
O rapaz atravessou a sala escura. No meio dela sentiu-se de repente perdido, sem rumo. Aquele compartimento tinha cem léguas e cem anos. Estava povoado de mortos e mistérios.
Bateram à porta. Vasco estremeceu. No primeiro instante não teve coragem de ir abrir. Nova batida. Não havia mais criados na casa.
Quem seria? As batidas se repetiram, insistentes, rápidas.
- Clemência apareceu.
- Quem será? - perguntou, acendendo a luz. Vasco foi abrir. Era Cleonice, que voltava para passar
a noite no casarão. Estava muito encolhida debaixo do guarda-chuva. Entrou.
- Vais te constipar, Cleonice. Tira os sapatos molhados, bota os chinelos.
Vasco admirava a calma daquela mulher. Já parecia resignada a tudo. Lembrara-se de que ele podia não ter jantado; preocupava-se com a saúde da irmã.
- Como vai a Clarissa?
- Está mais calminha.
- Tomou o remédio?
- Tomou. Uma colher de duas em duas horas. Faz quinze minutos que tomou a última.
Vasco subiu. Parou diante da porta do quarto da prima, com vontade de entrar. Hesitou. Subiu para o seu quarto. Abriu um livro. Leu cinco linhas. Deu com a palavra "perfeito"Voltou-lhe a obsessão: prefeito, prefeito, prefeito. E não lhe saiu mais da mente a imagem odiosa.
Apesar da chuva, o calor continuava.
Passava o tempo. Vasco foi sentindo aos poucos a sua velha impressão de sufocamento, de prisão. Começou a caminhar no quarto, inquieto. Molhou o rosto. Vestiu o casaco. Desceu. Entrou no quarto de Clarissa, sem pensar, sem pedir licença, sem bater.
Clarissa ergueu-se na cama, viu o primo, ficou olhando para ele fixamente e depois, com uma voz sentida, queixosa, uma voz abandonada de quem pede proteção, exclamou:
- Vasco!
Ele estava imóvel, à porta. E assim ficou sem uma palavra, sem um gesto. Clarissa levantou-se. Seus olhos brilhavam.
- Vasco, levaram o papai...
Disse isto num tom atarantado. Era uma queixa, mas era também um protesto, um pedido de contas.
O rapaz continuava imóvel. Uma coisa lhe doía dentro do peito.
- Levaram o papai, Vasco... - insistiu ela, sem tirar os olhos do primo.
Era como se dissesse: Tu deixaste os homens levarem o meu pai? Viste tudo e ficaste parado? Eu sempre tive tanta confiança no Gato-do-Mato! Onde é que estavas quando os homens vieram buscar meu pai?
As lágrimas agora rebentavam nos olhos da menina, o choro lhe afogava a voz.
Vasco teve a impressão de que ela ia cair. Avançou, amparou-a. Clarissa abandonou-se nos braços dele e desateu por completo o choro, num desabafo.
Achava um amparo. Tinha um amigo. A mãe era boa e solícita, mas não sabia acariciar. E ela precisava de ternura, de muita ternura...
Vasco afagava-lhe a cabeça. As lágrimas quentes da prima lhe empapavam a camisa. Ele sentia aquele corpo morno e moço estremecer junto do seu. Era bom. Era envolvente. Era estranho.
Clarissa soluçava. Ficou assim nos braços do primo por alguns segundos. com a cabeça encostada no peito dele, sentia-lhe o pulsar vigoroso do coração. E aquela carícia que ele lhe fazia na cabeça era apaziguante, doce, adormecedora.
- Clemência e Cleonice entraram no quarto. Vasco sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Teve uma sensação de culpa. Afastou Clarissa. As mulheres levaram-na para a cama. Cleonice abriu a janela.
- Também neste abafamento a pobre da menina nem pode respirar.
- Clemência tentava consolar a filha:
- Tenha coragem, menina. Deus é grande. Deus é grande - repetiu Vasco num eco interior.
E sentiu-se tomado duma sensação esquisita que já não era mais apenas tristeza e desalento. Era um desejo de paz, de solidão para pensar, para ruminar aquela sensação estranha que experimentara havia pouco ao abraçar Clarissa.
Desceu as escadas quase correndo. Abriu a porta da rua e saiu sem chapéu e sem capa a caminhar na chuva.
Caminhou por muito tempo sem rumo e quase sem pensamentos.
As calçadas estavam reluzentes, espelhavam a luz dos combustores. Corriam rios encapelados pelas sarjetas.
A chuva batia-lhe no rosto, encharcava-lhe os cabelos, entranhava-se-lhe nas roupas. E como era agradável a frescura da chuva!
Vasco começou a pensar com clareza.
Tinha de salvar Clarissa! Tinha de salvar Clarissa!
Não podiam ficar na lama de Jacarecanga. Ali havia homens impiedosos que pagavam capangas para matar. A vida era suja, baça, igual e sem beleza. Nascia-se velho naquela cidade esquecida de Deus. Ele tinha de descobrir um meio de fugir. Jovino estava perdido. Ele, Vasco, era o único homem com quem as duas mulheres do casarão podiam contar...
Continuava a marchar sob a chuva. Seguia pelo meio da rua. De quando em quando pisava em poças dágua. Via janelas iluminadas a recortar retângulos luminosos no calçamento alagado. Nos fios da rede de eletricidade viajavam gotas dágua, como pingos de fogo.
Passou um automóvel. E nos feixes de luz dos dois faróis ficaram mais nítidos por um instante os fios da chuva.
Ainda a caminhar, Vasco olhava a sarjeta e lembrava-se de João de Deus. Mas, em sua mente a imagem de Clarissa se superpunha à do morto.
Pensou no pai. Por onde andaria? Decerto estava enterrado num canto qualquer da terra italiana. Talvez tivesse mesmo morrido na guerra. Mas... e se estivesse vivo? Curioso, nunca lhe ocorrera isso.
Passavam homens encolhidos pelas calçadas, olhavam para Vasco. - Quem era aquele sujeito sem chapéu, que andava pelo meio da rua, como um louco? - Paravam para olhar.
Era já meia-noite quando Vasco voltou para casa.
Estava cansado e molhado até os ossos. A chuva parara. Agora fazia um pouco de frio.
Deixou os sapatos no corredor. Subiu para o quarto na ponta dos pés. Tirou o casaco, as meias. Começou a tremer de frio. Tinha a impressão de que amolecera por dentro. Despiu-se por completo e esfregou o corpo com uma toalha felpuda. Vestiu um pijama, fechou a janela. Continuava a tremer.
E se ficasse doente? Uma pneumonia... Cairia de cama com febre. Daria trabalho às pobres mulheres. Podia morrer...
Parou de súbito, ferido pela ideia.
Se morresse, não poderia salvar Clarissa, não poderia salvar-se a si mesmo. Se morresse, as duas mulheres ficariam sozinhas...
Precisava tomar algo quente. Desceu. Abriu a porta do guarda-comida. Tirou a rolha de uma garrafa e cheirou. Vinagre. Abriu outra garrafa. Espírito de vinho. Pegou uma terceira. Cachaça. Levou-a à boca mas lembrou-se de Jovino e pô-la de novo na prateleira. Tornou a pegar nela. Precisava beber alguma coisa quente. Era urgente. Não podia adoecer. Levou o gargalo à boca e tomou um gole longo. Soou-lhe na memória a voz de João de Deus. Bêbedo como o pai. Teve uma impressão desagradável. Nem morto ele o deixava em paz. Bêbedo como o pai. Ruim como o pai. Orgulhoso como o pai. Bebeu outro gole com raiva. E outro, mais outro...
Começou a sentir-se tonto. Tonto e miserável. Deixou cair a garrafa. Subiu para o quarto. Um calor bom lhe percorria o corpo. Tinha as ideias embaralhadas. Mas reagia, procurava pensar claro.
Gosto de cachaça. Sensação de envenenamento. Ruim como o pai. Bêbedo como o pai. Ainda vai acabar mal...
Enquanto subia a escada, no escuro, tateando, a voz de João de Deus o acompanhava.
Entrou no quarto. Estendeu o braço, procurando o botão da luz. Tropeçou em qualquer coisa e caiu no chão de todo o comprimento, batendo com a testa na quina dum móvel. A dor espertou-o um pouco. Levou a mão ao rosto. Sentiu nele qualquer coisa úmida e quente. Devia ser sangue. Arrastou-se para a cama e deitou-se. O talho lhe doeu durante quinze minutos. Depois veio um sono fundo e sem sonhos.
Depois da missa do sétimo dia uma comissão do partido oposicionista de Jacarecanga foi visitar a família de João de Deus.
Eram os mesmos homens da noite do velório.
- Clemência os recebeu na sala sombria, de janelas fechadas. Houve um momento difícil de conversa fútil. ”Então, como tem passado? E sua filhinha?” (Suspiros. Pigarros.) ”Está quente que é um horror! Vamos ter um verão tremendo.”
Pausas demoradas.
Sentada na velha cadeira que fora a preferida do sogro e depois do marido, D. Clemência, toda de preto, torcia na mão o lenço branco. O homem que tinha a efígie de Silveira Martins na medalha do relógio, entrou no assunto:
- D. Clemência, nós vimos lhe comunicar que o Partido tomou todas as providências para descobrir o criminoso...
Um dos outros membros da comissão atalhou:
- Fomos informados que o Cabeludo está refugiado no município de Soledade.
- Clemência escutava. De que valia prender o criminoso, pô-lo na cadeia - se João de Deus não podia voltar mais? Ela não era vingativa. Não sabia odiar. Sentia a morte do marido, sofria, e era tudo...
O homem do medalhão continuou:
- A senhora pode ficar certa que isso não fica assim ... - repetiu com ênfase: - Não fica assim! Essas barbaridades não podem continuar. Se for preciso, vamos até o presidente da República.
Os companheiros sacudiram a cabeça, numa aquiescência. Sim. Iriam até o presidente da República, se preciso fosse.
Pausa. Um gato miou no corredor. Do quarto de Jovino veio um rosnar surdo. D. Clemência ficou inquieta.
O homem da medalha lutava por entrar no assunto mais difícil. Tinha de desembuchar. Não queria ofender... Era preciso muito jeito. Enfim, criou coragem:
- D. Prudência. - Na confusão, trocou o nome. Nós... o Partido... quer pagar todas as despesas do enterro...
- Clemência baixou os olhos, conteve o pranto, torceu o lenço.
- A senhora naturalmente não vai se ofender... Um companheiro socorreu-o:
- É a coisa mais justa do mundo. Ele era nosso correligionário. Prestou serviços à causa.
Os outros sacudiram a cabeça, aplaudindo. O mais magro de todos, que até então estivera calado, disse com voz fina mas enérgica:
- E já nomeamos um advogado para acompanhar o processo. Isso não fica assim - garantiu com entusiasmo, batendo com o punho na guarda da cadeira e dando uma expressão resoluta ao rosto chupado.
Depois o silêncio tornou a cair.
- Clemência procurava palavras para agradecer. Não conseguia, porém, vencer o embaraço. Os homens da comissão se entreolhavam. Jovino no quarto soltou um uivo. O gato subiu a escada, ágil e quase incorpóreo na penumbra.
Um dos homens perguntou, só para dizer alguma coisa:
- Quantos anos ele tinha?
A mulher pensou um segundo.
- Ia fazer quarenta e seis.
O chefe da comissão sacudiu a cabeça, para exprimir a pena que sentia.
- Era moço.
O magro de voz fina:
- Muito moço. Outra voz:
- Bem da minha idade.
- Imagine...
Pigarro. Suspiro. Outra vez o silêncio.
- A missa esteve concorrida.
- Muito. Me lembrou um pouco a do finado Olivério.
- É verdade.
As palavras pingavam. D. Clemência tinha os olhos baixos. Jovino uivou de novo. O chefe da comissão bateu de leve na coxa, tirou o relógio, olhou o mostrador, meteu-o no bolso sem ter visto a hora, e disse aos companheiros:
- Vamos indo, não?
Levantou-se. Os outros o imitaram. Arrastar de cadeiras. O homem da medalha parou diante da viúva:
- D. Clemência, não faça cerimónia. O Partido está disposto a auxiliar a senhora em tudo que for preciso. Não se acanhe. Qualquer coisa, é só mandar me avisar na minha casa ou no escritório. A senhora sabe...
- Muito obrigada - murmurou ela - muito obrigada. Não precisamos de nada.
- Mas se precisar, não se acanhe. Os homens pegavam os seus chapéus.
- Enfim o João de Deus sempre foi um companheiro. E lhe digo mais uma vez: isso não fica assim.
- Clemência sacudia a cabeça, ansiosa por ver aquela gente na rua.
Os homens se despediram com apertos de mão, inclinações de cabeça e novos oferecimentos. Quando o último deles botou o pé na calçada, a viúva fechou a porta e voltou devagarinho para dentro.
Clarissa, que a esperava no quarto, interrogou-a com o olhar. D. Clemência quis repetir o que lhe haviam dito. Não pôde porque rompeu a chorar.
A preguiça do verão, mole, viscosa, pesada, sonolenta, tomava-lhe conta do corpo. Vasco tentava reagir. Metia-se debaixo do chuveiro, enxugava-se, vestia-se, ganhava a rua. Era preciso fazer alguma coisa, pelo menos pensar em algum plano de ação.
A cidade modorrava na grande claridade amarelenta. As pedras queimavam. Um leve vapor tremia no ar. De quando em quando se ouvia um ruído isolado: canto de galo, a trompa da carrocinha do sorvete, o buzinar dum automóvel, o grito duma criança.
Vasco caminhava sem rumo. O sol era um castigo. A camisa ficava encharcada de suor. Ardiam-lhe a cabeça, os olhos, a garganta, a sola dos pés.
Para onde ir? Não tinha amigos íntimos com quem se pudesse abrir. Os outros, não os procurava. Orgulho? Sim, orgulho - gritava o fantasma de João de Deus.
Andava à toa pelas ruas desertas. Sentia sede? Entrava num café, pedia água gelada, bebia estupidamente, e saía. De novo a rua, o sol, a poeira, as pedras quentes, o céu pálido e rútilo, e a solidão.
Voltava para casa. Tirava o casaco, a gravata. Abria livros, lia algumas páginas... Sentia desejos incoerentes. Olhava-se no espelho e achava-se mais velho. Tentava desenhar, rabiscava sem paciência, não gostava do que fazia.
Analisava-se, desconhecia-se. Onde estava o Gato-do-Mato? Onde estava o menino que confiava na sua coragem, que queria correr mundo, viver aventuras, ver outras terras, meter-se num brigue de piratas? Qual! Bobagens, sonhos doidos dos quinze anos. Agora a realidade ali estava a bater-lhe na casa. Era a morte brutal de João de Deus, a dissolução lenta de Jovino, a falta de emprego, a falta de dinheiro, as contas batendo à porta, os espectros dum passado triste e escuro.
À noite não aguentava o quarto. Saía a andar pelas ruas menos movimentadas. Era bom olhar as estrelas. Deitava-se no campo e ficava a contemplar o céu, imaginando coisas ... Às vezes, estendido na relva, no alto duma coxilha, começava a sentir uma saudade singular. Era um sentimento aflitivo e ao mesmo tempo doce, porque não tinha forma definida. Era algo de esfumado e indeciso. Lembrava-se duma cidade qualquer perdida numa cerração. Tinha a impressão de que estivera lá havia muitos, muitos anos, talvez numa outra vida. Associava essa cidade à sensação de frio, à imagem de barcos à vela, montanhas de picos nevados... E havia sempre a presença misteriosa do mar... Tudo isso vago. vago... E ele procurava prender a paisagem ideal, reforçar-lhe os traços. Mas as imagens fugiam, sumiam-se, ficando apenas a saudade delas. Lembrava-se dum livro de gravuras que vira aos dez anos: ”Países Escandinavos”. Cidades frias e limpas na bruma. . . Oslo, Estocolmo . ..
Muitas vezes ficava aterrado ante o silêncio do céu e voltava apressado para a cidade. Ia à casa de Gogó. Aquilo se estava tornando um hábito de todas as noites. Era preciso acabar. Podia dar complicações. Gogó nunca pedia explicações, não lhe exigia dinheiro, era submissa como um animal doméstico. Mas era preciso acabar com aquilo.
Vasco evitava encontrar-se com Clarissa ou com D. Clemência. Comia no quarto ou não comia. Dava desculpas. Mentia que tinha convites para jantar ou almoçar fora...
E ficava-se estirado na cama. A leitura lhe enchia as horas. Desprezava os livros melhores. Relia antigos romances de capa e espada, tremendos calhamaços de Rocambole que encontrara num canto do sótão, velhas leituras de João de Deus e dos irmãos.
Quando caiu em si, percebeu que haviam passado sete dias depois da morte de João de Deus. Sete dias!
Foi ao espelho (hábito que adquirira com a prisão) e ficou a olhar para o reflexo do vidro: um moço de cara barbuda, olhos pisados, cabelos desalinhados. Não se reconheceu. Teve uma dolorosa impressão de decadência. Ensaboou o rosto, pegou a gilete e barbeou-se. Penteou o cabelo, tomou um banho prolongado e mudou de roupa.
Sentiu-se melhor. As ideias lhe vieram mais claras. Chegou a ter esperança... Nasceu-lhe, ou melhor, renasceu-lhe um plano. Iriam todos para Porto Alegre. Já havia pensado nisso muitas vezes. Clarissa tentaria conseguir a sua remoção para a capital. D. Clemência costuraria para fora. Ele arranjaria um emprego: num jornal, numa revista, como desenhista, ou como repórter; se isso não fosse possível, faria qualquer outra coisa, seria empregado de loja, carteiro, motorneiro, chofer, o diabo! O importante era trabalhar. O essencial era fugir de Jacarecanga, daquela vida primitiva, monótona, sem estímulo, sem brilho, sem nenhuma graça.
O plano assumia proporções gigantescas. Vasco já se via dentro dum mundo novo. Esqueceria o passado. Enterraria definitivamente os seus mortos. Um dia haviam de falar no seu nome.
Começou a assobiar. Como tudo era simples, fácil, claro! Desceu. Ia contar o plano a Clarissa e a mãe. Quando chegou à varanda, ouviu que batiam à porta. Abriu. Era um mulatão mal-encarado que lhe estendeu um papel. Vasco pegou e leu. A conta da farmácia. Medicamentos para a doença de tia Zezé, que falecera havia seis meses:
354$600. Olhou o papel. Leu o nome dos remédios, leu sem propósito nenhum, leu sem entender... Ficou embaraçado. Ergueu os olhos para o cobrador:
- Depois eu passo lá - disse.
O mulatão resmungou alguma coisa, de má vontade. Fez meia-volta e se foi.
Vasco sentou-se no degrau da escada. Todas as suas esperanças ruíam. O plano vinha abaixo. No entanto - ele sentia - era uma tolice, porque a conta nada tinha a ver com seus projetos; ela existia mesmo antes de seus sonhos haverem nascido. A conta era de Jacarecanga, do passado, dos mortos. Seu plano pertencia ao futuro, a um futuro de claridade. Vasco lutava por se convencer disso. No entanto o papelucho branco se impunha e a sua presença era quase tão grande, poderosa e acabrunhadora como a presença do cadáver de João de Deus na noite do velório.
Ficou pensando... De seu canto viu Clarissa, que subia para o quarto. Deixou-se ficar onde estava encolhido, com medo de ser visto.
CAPÍTULO TERCEIRO
A entrevista que o prefeito deu à ”Gazeta” teve o efeito duma bomba. Toda a gente em Jacarecanga a comentava naquele sábado de janeiro. Discutiam-na nas rodas dos cafés, nas esquinas, nas praças. Não se falava noutra coisa.
Pio, marido de Cleonice, apareceu no casarão com um número do jornal. Deu-o a Vasco, às escondidas. Sua cara redonda e vermelha tremia de indignação:
- Veja, Vasco, esses sem-velgonhas - disse ele com o seu lambdacismo infantil. - Eles pelcisam é dumas boas pauladas.
Na intimidade Pio ficava valente. Casado com a irmã de D. Clemência, era naturalmente um membro da família. Aquela sua indignação era coisa quase obrigatória; constituía também uma mostra de solidariedade. No fundo, entretanto, a sua raiva era muito aguada, muito fraca, inconsistente e convencional.
- Leia só o que disse esse cafajeste do prefeito - exclamou: - Esse cafajeste! Se eu encontro ele, guspo na cara dele. Guspo mesmo!
E dizendo isto olhava para os lados, cauteloso, com medo de espiões.
Vasco pegou o jornal. Os cabeçalhos eram espalhafatosos. Em torno do ruidoso crime da Praça do Império. Entrevista com o nosso ilustre Edil. - O que nos declarou S. S. - Revelações que esclarecem o assassinato do Sr. João de Deus Albuquerque.
Vasco sentou-se na cama e começou a ler. Pio respirava, ofegante, enxugava o suor do rosto sem tirar os olhos do rapaz.
A entrevista começava com as palavras de costume: Fomos procurar no palacete da prefeitura S. S., que nos recebeu com a afabilidade que lhe é peculiar. Como se dava ao crime da Praça do Império uma significação política, ninguém melhor que o nosso preclaro Edil podia dizer alguma coisa a respeito, tanto mais que se sabe que S. S. está tomando todas as providências para que se capture o criminoso.
Depois vinham as perguntas e as respostas. O prefeito (Vasco ouvia-lhe mentalmente a voz odiosa) confessou a sua surpresa e o seu pesar diante da ”triste e lamentável ocorrência”. Fez elogios à sua própria bondade e tolerância. E quando o repórter da ”Gazeta” (órgão oficial do partido da situação) lhe perguntou: A que atribui o móvel do crime?, o entrevistado respondeu: A uma questão de mulheres. Ficou apurado que João de Deus e Zé Cabeludo tinham uma rixa velha por causa de uma mulher da vida fácil com quem o primeiro vivia amancebado.
Vasco sentiu uma tontura. Aquilo era uma mentira, uma infâmia, uma. .. Amassou o jornal e jogou-o longe. Levantou os olhos para Pio:
- Isso é uma miséria! O João de Deus tinha muitos defeitos, mas eu sei que não se metia com mulheres.
- É verdade! O João de Deus não ela desses... Eu sei. Pio apanhou o jornal amassado, alisou-o e apresentou-o de novo ao rapaz.
- Você não leu tudo. Leia. Tem mais.
No fim da entrevista, o prefeito declarava: Temos testemunhas de que João de Deus provocou o Zé Cabeludo quando se encontrou com ele na praça. E lhe adianto mais: a vítima estava embriagada, como era seu costume. Aliás, não é o primeiro caso de embriaguez na família, isso é fato do domínio público...
Vasco deixou cair o jornal. Era incrível tanta miséria moral, tanta sujeira. Teve uma sensação de sufocamento. Foi até a janela. Precisava de ar puro. Mas não havia ar puro em Jacarecanga. O prefeito e seus capangas empestavam a cidade. Eles precisavam fugir antes que aqueles miasmas lhes envenenassem os pulmões, lhes destruíssem a alma, a vontade, o pouco que lhes restava de limpo e decente.
- Pio, não deixe elas verem.
Pio sacudiu a cabeça. Não tinha mostrado o jornal às mulheres. Não mostraria. Ia pedir aos vizinhos que não dissessem nada.
Vasco voltou-se, brusco:
- Esse patife merecia uma lição. Precisavam quebrarlhe aquela cara de cavalo... Aquela cara.
Por que não dizer ”eu precisava”? - censurou-se Vasco. Seria um covarde? Não teria a coragem dum gesto másculo? Depois de tudo aquilo ia continuar ali parado, fechado no quarto, enquanto toda a gente na cidade andava comentando abertamente que João de Deus morrera por causa duma mulher ordinária, provocara o Cabeludo porque estava bêbedo, porque ”era” bêbedo como todo o resto da família... ?
Ao descer, Vasco encontrou Clarissa com o jornal na mão, parada no meio da varanda, olhando para ele numa súplica.
Vasco aproximou-se dela, nervoso e agitado. Dominou-se com um esforço enorme. Tomou-lhe o jornal. Dobrou-o e rasgou-o tranquilamente. Os pedaços de papel caíram a seus pés.
- Vasco, não era verdade, não é mesmo? As lágrimas inundavam os olhos de Clarissa. Pio assobiava baixinho para vencer a comoção. Vasco -segurou com as grandes mãos os ombros da prima.
- Minha filha, tudo isso é uma mentira. Seu pai era um homem de bem.
Clarissa desatou o choro. Pio escapuliu-se. Vasco puxou a prima contra o peito. Estava comovido e trêmulo. Falou com dificuldade:
- Não deixe... não deixe sua mãe ver... E por entre soluços Clarissa contou:
- E... e... ela... já... já leu... A vizinha... mostrou. Vasco afagou-lhe a cabeça.
- Está bem. Vá dizer pra ela que eu disse que tudo é mentira. Tudo... Por Deus!
Desprendeu-se de Clarissa e subiu para o quarto. A raiva agora lhe crescia no peito.
Ao anoitecer Xexé apareceu. Entrou taciturno, acocorou-se no chão, tirou o quepe, recostou-se na parede e olhou para Vasco, que estava sentado à sua mesa, com a cabeça entre as mãos.
- Ocê leu?
Vasco sacudiu a cabeça. O quarto estava sombrio. A claridade pálida da tardinha entrava pela janela. Ambos ficaram em silêncio. Xexé fez várias tentativas para falar. Todas elas morriam num ronco. Vasco percebeu que o negro tinha alguma coisa a dizer. Conhecia-o tão bem: quase podia ler-lhe os pensamentos.
Num momento em que o outro se mexeu, desinquieto, Vasco gritou sem voltar os olhos para o amigo:
- Conte logo. Desembuche.
com os olhos no chão, Xexé falou surdo:
- Estão dizendo aí que ocê está com medo ... Vasco, que se achava preparado, aparou o golpe. Não
disse nada. O outro continuou:
- Falam que ocê vive metido em casa, de medo dos capangas...
Se a luz estivesse acesa Xexé veria o vermelhão que cobria a cara e as orelhas do amigo.
- Quase briguei com um sujeito que me disse: ”Se o Vasco fosse homem ia tira uma satisfação”. O Vasco é homem, digo. Conheço ele.
Vasco estava perturbado. Tinham razão de falar. Ele havia procedido como um covarde ...
Xexé falava. Mas já Vasco, perdido em seus pensamentos, não o escutava mais ...
A noite caíra por completo. A voz de Xexé estava mais rouca que de costume:
- Já disse. Se ocê quê, eu enxugo aquele canaia. Vasco brincava com o lápis, excitado.
- Não, Xexé. Você não tem nada com isso. A coisa é comigo.
Na vizinhança um rádio começou a berrar. Vasco não se podia livrar dum pensamento: Sou um covarde... um covarde ... um covarde.
Quebrou o lápis com raiva. Ergueu-se. Olhou para o céu. Naquele momento um pássaro qualquer riscou o ar num voo rápido. Vasco sentiu de novo vontade de fugir. Tinha raízes que o prendiam a Jacarecanga: compromissos de família, obrigações sociais. Oh! Fugir era uma covardia! Ou seria covardia não fugir?
Xexé levantou-se, puxou a túnica, enfiou o quepe e saiu sem dizer uma única palavra.
Lá de baixo veio um grito firme:
- Vasco, venha jantar!
Era a voz de D. Clemência. Vasco desceu... Fazia um esforço desesperado para não pensar. Parou à porta da sala de jantar. Clarissa estava à mesa, com as mãos segurando a cabeça, os olhos tristes, o ar abandonado. D. Clemência vinha trazendo uma terrina fumegante. Vasco sondou-lhe a fisionomia: estava tranquila. Conhecia o marido. Tinha certeza de que o prefeito mentira mais uma vez.
- Venha, menino.
Mostrou a Vasco uma cadeira. Sentou-se e serviu a filha. Clarissa olhava para o primo... Vasco falou com esforço:
- Não estou com fome.
- Deixe de bobagem, venha comer.
- Clemência queria ser gentil, mas não conseguia vencer as asperezas de seu tom de voz.
- Não estou com fome. Vou dar uma caminhada... Clarissa teve um sobressalto.
- Vasco! - exclamou ela, com os olhos muito arregalados. - Eu... eu... eu acho que não devias sair hoje...
- Clemência, que levava uma colherada de sopa à boca, fez parar a colher a meio caminho para dizer:
- Eu também achava bom você ficar em casa.
- Mas eu preciso ...
- Mas Vasco, tu não vês? ... - Clarissa não pôde terminar a frase. Porque sua imaginação já via a desgraça: o primo estendido na rua, com uma bala na cabeça.
Vasco fez meia-volta sem palavra e caminhou para a porta.
A noite estava fresca.
Vasco caminhava com uma ideia obsidente na cabeça: O prefeito gosta de rinha de galos. Hoje tem rinha.
Começou a apressar o passo. Tomara uma resolução. Não tinha coragem para matar. O que mais o apavorava em Jacarecanga era a frequência dos crimes, a facilidade com que um homem punha à mostra os intestinos do próximo, a naturalidade com que - por causa duma corrida de cavalos, duma dúvida no jogo de cartas, duma tola discussão sobre política - uma criatura tirava do revólver e alojava impiedosamente uma bala no corpo do adversário do momento, que às vezes era o amigo de poucos minutos atrás. Não: ele não mataria. Nunca usava armas. Mas o prefeito havia de pagar... O seu plano era confuso. Não previa consequências. Era simples. Avançaria de surpresa e quebraria aquela cara de cavalo, aquela cara odiosa...
Vasco antegozava. Antevia a surpresa do homem, diante do ataque inesperado. Sentia contra os nós dos dedos a aspereza da barba ruiva do Major Bragança.
Dobrou uma esquina e tomou o rumo do ”Rinhedeiro Guasca”. Sentia agora dentro do peito uma fúria que crescia de instante para instante e fazia que ele fosse aos poucos acelerando o passo.
De repente lembrou-se de que já se vira numa situação assim. Havia muito, muito tempo... Lembrou-se. Uma noite como aquela, fresca e estrelada, Xexé lhe viera dizer: O Pedruca disse pró Chiquinho que tu é froxo. Ele saiu como um louco à procura de Pedruca. Achou-o na praça, no meio dum bando de companheiros. Aproximou-se dele, gago de raiva:
- Severgonho, tu disse que eu sou froxo?
A cara sardenta e miúda de Pedruca (como ele se recordava com nitidez!) se contraiu numa expressão de espanto e medo:
- Quem foi esse mentiroso que inventou?
- Froxo é você!
Golpeou o outro na cara. Pedruca baqueou, erguendo poeira do chão. Os outros companheiros ficaram olhando, sem coragem de intervir. E, pisando duro, de cabeça erguida ele voltou para casa...
Vasco caminhava agora ao ritmo de suas recordações. Boas recordações. Naquele tempo tudo era fácil. Ele era o ”bamba da zona”. Todos os garotos da cidade o respeitavam. Quando se falava no Gato-do-Mato era como se falassem num Grande Chefe.
Mas as imagens e os ecos apagados da infância só ocuparam por alguns segundos a mente de Vasco.
De repente uma figura dominante tomou-lhe conta de todo o campo da memória. O Major Bragança. .. Ele lhe ouvia a voz sossegada, a risada bem marcada, os bigodes caídos. Decerto estava a dizer nomes feios e a incitar o galo de rinha em que apostara. E cuspiria de instante em instante. E retorceria a cara no seu cacoete doentio. Diria besteiras e os homens que o cercavam, adulões, ririam para serem agradáveis ao ”chefão” ...
Os homens que o cercavam... Sim, Vasco não tinha pensado neles. O prefeito sempre andava acompanhado. Uma ordenança armada de revólver e espada o seguia sempre a pequena distância. O próprio Major Bragança andava sempre armado...
Parou a uma esquina, ficou pensando... Havia aquela dificuldade. Não deixariam que ele se aproximasse do prefeito. Haviam de atacá-lo, haviam de deixá-lo deitado com o corpo lanhado de espadas ou - quem sabe? - crivado de balas.
Sempre a covardia! Por que era que as pessoas tinham um apego tão grande à vida? Lembrou-se do dia em que chegara a casa molhado e bebera cachaça com medo de apanhar uma pneumonia...
Tinham razão. .. Era um covarde, um covarde e nada mais.
E a fúria de novo o dominou. Seguiu, cego, rumo do rinhadeiro. Ao se aproximar da casa, ouviu um vozerio confuso que vinha lá de dentro, pontilhado de gritos e risadas.
Entrou. No centro de pequena arena dois galos estavam atracados, às bicadas. Um deles sangrava. Ao redor dos lutadores, agrupavam-se muitos homens. Vasco passeou o olhar em torno. Caras barbudas, de dentes amarelos, feições duras. Homens de bombachas, chapéus de abas largas, lenços coloridos ou brancos ao pescoço. Explodiam gritos, interjeições: A Ia fresca! Já se afrouxou o galito preto! Puxa Ia barbaridade, que rinha braba! Roncavam enormes gargalhadas. Cigarrões grossos de palha despediam um fumo espesso e de cheiro forte, que enchia o ar.
Vasco tornou a passear os olhos a seu redor. Não viu o prefeito.
Olhou as aves que brigavam. Elas também se achavam possuídas duma grande fúria. Tinham coragem, sabiam odiar. E se agrediam com o bico e os esporões. A arena se tingia de sangue. Os homens estavam excitados.
Vasco saiu. Na rua sentiu que a sua raiva de momentos atrás era agora um ódio frio. Iria até o fim. Mas tinha perdido metade do entusiasmo.
Aonde ir então? O Major Bragança decerto não tinha saído de casa. Sim, era possível...
Foi até a casa do prefeito. Espiou pelas grades do portão. Lá no fundo do jardim, por entre árvores, branquejava a casa do homem odiado. Duas janelas iluminadas.
Vasco ficou olhando. Teve vontade de jogar uma pedra nas vidraças. Achou que aquilo seria infantil e inútil. Mas precisava fazer alguma coisa. Segurou forte nas grades. Teve ímpetos de gritar bem alto um palavrão. Outra infantilidade. O melhor que tinha a fazer era ir embora. Deixaria tudo para o dia seguinte...
Voltou-se. Um vulto cresceu à sua frente. Vasco assumiu uma atitude de defesa.
- Sou eu. Era o Xexé.
- Que é que você anda fazendo?
- Nada. E ocê?
- Eu? Nada.
Ficaram em silêncio. Depois saíram a caminhar lado a lado, rumo do centro da cidade, sem nenhuma combinação, sem nenhum gesto. As sombras dos dois amigos se estendiam na calçada, confundiam-se às vezes, bem como nas velhas caminhadas do passado, nas tremendas aventuras da infância, quando iam atacar um bando de índios peles-vermelhas, descobrir o tesouro da lagoa ou desvendar os mistérios do cemitério.
As estrelas brilhavam. Os dois amigos seguiam calados, esforçando-se por guardar os segredos que levavam no peito. Mas era inútil. De repente Xexé disse:
- Ele está no crube.
- Ah...
A luz do holofote dum automóvel iluminou-lhes as caras de repente, num relâmpago. Um cachorro latiu, longe.
E sem trocarem palavra, os amigos se revelaram mutuamente os seus segredos.
Foram sentar-se num dos bancos da praça, à sombra dum grande cinamomo copado. Dali podiam avistar o clube.
O negro puxou o quepe para os olhos e rosnou:
- Quem vai sou eu.
Vasco compreendeu e replicou, ríspido:
- Não seja besta. Você não tem nada com a coisa... Ficaram muito tempo mudos. Xexé pensava na mãe.
Lembrava-se daquela noite de tempestade. Tinha bebido. Trovejava. O vento mexia com o zinco do telhado, arrastava latas no pátio, entrava assobiando pelas frestas. Como um cachorro velho e pesteado, a mãe preta estava no canto do rancho, pitando o seu cigarro de palha. A carapinha dela tinha uma cor ruça. Pobre da velha! Estava ali sem dizer nada, olhando para o filho, querendo pedir uma coisa, uma coisa que ele sabia: ”Xexé, tu não bebe mais, sim?” Ele já estava ficando louco por causa do vento. O melhor era a velha desembuchar logo. As palavras dela não lhe fariam tanto mal como aquele olho triste de cachorro abandonado, de cachorro velho, de cachorro pesteado. O vento gemia. Caiu um raio lá pras bandas de Canudos. Ouviu-se um trovão mais forte. A luz do toco de vela metido no gargalo da garrafa, apagou. Ficaram no escuro. Mas mesmo no escuro ele sentia os olhos da mãe. Os olhos pareciam dizer: ”Meu fio, não bebe, tua mãe fica triste, meu fio, não bebe”. E de repente ele sentiu vontade de fazer uma malvadeza. Compreendeu que só assim podia ser feliz, só assim podia se livrar daquele medo do vento, do raio, do trovão. Estendeu a mão no escuro. Encontrou uma coisa. Apalpou. Era a sua adaga. Levantou-se e falou:
Veia!
Dum canto veio um ronco.
- Hum.
Ele estendeu a mão que tinha livre. Encontrou uma coisa fria, mole, úmida: o ombro da mãe. Levantou a adaga. Lépt. Ela soltou um uivo. Depois ele foi ficando como louco, cego (e cego no escuro é ainda mais cego), e continuou a bater com raiva. A mãe rolou para o chão. Ele se agachou e começou a ferir a escuridão, às tontas. A negra não gemia mais. Decerto tinha perdido os sentidos. Ou estava morta. Ele saiu como um louco, abriu a porta com um empurrão e correu pela rua. Relampejava. Parou debaixo dum poste de iluminação. Olhou as mãos. Estavam sujas de sangue. Então, para esquecer, entrou numa bodega e bebeu até cair. Dormiu na rua. De manhã voltou para casa. Quando entrou, tremendo de medo e de vergonha, viu a mãe sempre acocorada no canto. Estava ali com seus olhos de cachorro velho e doente, um pano amarrado ao redor da cabeça, o vestido manchado de sangue, os beiços inchados, os ombros lanhados. Ele aproximou-se dela e quis dizer uma coisa mas não teve coragem. Ela fez um sinal para a mesa e disse:
- O teu café tá pronto.
Então ele desandou a chorar. E a preta velha sempre ali no seu canto, sem dizer nada, sem chorar nem rir, simplesmente olhando com olhos tristes de cachorro surrado.
Xexé pensava na sua desgraça. Era um canalha. Se Vasco soubesse de tudo, não sentava com ele no mesmo banco, não andava ao lado dele na rua.
- Sou um canaia! - murmurou.
Vasco passou a mão pela cabeça e respondeu:
- Você devia era deixar da cachaça. O negro encolheu os ombros.
Não tiravam os olhos da porta do clube. Passavam-se os minutos.
- Será que ele está mesmo? - perguntou Vasco.
- Tá. Tá vendo aquele sordado lá? É a ordenança dele. Dois homens desciam a escada do clube. Vasco ergueu-se. Xexé mal levantou a aba do quepe:
- Não é ele.
Não era. Vasco tornou a sentar-se.
- Você vai embora, Xexé.
- Não vô.
- Vai. Quem faz sou eu.
- Onde é que está a arma?
- Não tenho.
- Ocê tá loco.
Vasco fez um gesto de impaciência. Levantou-se. Caminhou para o centro da praça, por uma aléia de coqueiros. Xexé seguiu-o de curta distância. Vasco voltou-se:
- Pelo amor de Deus, Xexé! Vá embora!
Xexé estava parado, de mãos nos bolsos, inflexível. O amigo insistiu:
- Você quer que continuem a me chamar de covarde?
- Eu sei que ocê não tem medo. Deixe que falem. Vasco retomou a marcha. Meteu as mãos nos bolsos
e começou a assobiar, para disfarçar a raiva.
Parou de novo. Fez meia-volta e segurou Xexé pelos ombros:
- Dá o fora, negro sujo!
- Tá bem, ocê disse certo. Negro sujo. É o que eu sou. Foi embora. Vasco ficou espantado diante da mudança
súbita. Conhecia o outro. Xexé devia ter algum plano...
Uma chuva de pequenos frutos ovais e alaranjados caiu do alto do coqueiro na cabeça de Vasco. Ele se curvou e apanhou alguns do chão.
Mordeu-os, nervoso, cuspiu. ..
Sentou-se de novo no banco da praça fronteiro ao clube. E ali ficou de atalaia.
Fazia já mais de uma hora que ali estava. Doíam-lhe as costas. Em pensamento já agredira o prefeito de mil modos.
E antevira de mil modos também as consequências da agressão.
A cena fora rápida. Investiu com raiva contra o major, desferiu-lhe um soco no queixo, derribando-o. A ordenança correu. Uma detonação. Ele sentiu uma dor aguda no peito, e caiu. Levaram-no para o hospital. Os melhores médicos o desenganaram. Mais um cadáver ficou estendido no dia seguinte na sala do casarão. Clarissa soluçava sem poder chorar.
O enterro foi pouco concorrido. Xexé carregou o caixão a pulso até o cemitério. Os tico-ticos cantavam nos plátanos. Algumas flores. Claro, não houve discurso. O dia estava claro, o céu azul, as formigas do cemitério trabalhavam ativamente, preparando suas reservas de alimento para o inverno. A grande árvore subia para o céu e suas raízes se enterravam no peito dum defunto. E depois que o acompanhamento foi embora, o negro Xexé ficou olhando com seus olhos mortiços de peixe para a terra que tinha engolido para sempre o amigo de infância. Clarissa e a mãe foram para Santa Clara. Em Santa Clara havia um moço fazendeiro, muito simpático, que ficou gostando de Clarissa, e Clarissa dele. Casaram. Tiveram filhos. Ela esqueceu os seus mortos. E do corpo de Vasco Bruno nasceu uma grande árvore de tronco forte, de folhas verdes, de galhos duros que procuravam a luz, como que procurando fugir, fugir, fugir... E ele, que vivera preso à terra por fundas raízes, morto se transformara numa árvore com raízes ainda mais entranhadas. Não haveria nunca esperança de libertação?
Vasco levantou-se, como se não pudesse suportar sentado o peso de seus pensamentos.
Na frente do clube a ordenança do prefeito conversava com o chofer. Estavam ambos dentro do automóvel.
Era preciso formar um plano para chegar até o Major Bragança sem ser impedido. Dava-lhe um tapa-olho formidável. Seria uma resposta à entrevista mentirosa e suja. Um soco bem no olho, no esquerdo... Olho por olho. Depois poderia pensar noutras coisas, numa nova vida. Enquanto não fizesse aquilo, teria como que uma espinha atravessada na garganta...
Vasco esperava. Viu sombras à porta do clube. Ouviu uma gargalhada familiar. Uma gargalhada descansada, sonora, desagradável. Era o prefeito... Sim, era ele ...
Caminhou na direção do clube. Ficou esperando atrás da grossa coluna do portão. Dois homens desciam a escada. O Major Bragança vinha com a bengala dependurada no braço esquerdo. Parou para acender um cigarro. A seu lado, todo encurvado e solícito, um de seus aduladores lhe apresentava um fósforo aceso. Ficaram os dois parados um instante. Vasco tremia. Olhava, aflito, para o automóvel com o rabo dos olhos. A ordenança aindalá estava. O prefeito e o companheiro desciam calmamente os degraus. O primeiro falava alto:
- Eu tinha cartas boas... O diabo é que...
Vasco não ouviu mais nada. Agora que via mais de perto a cara odiosa, a sua raiva crescia. Ficou quase cego. Percebeu num relâmpago que a ordenança descia do automóvel. Mas não hesitou. Correu para o prefeito como uma bala. Distendeu o braço direito com toda a força e, com o punho fechado, golpeou-lhe duramente o olho. O major caiu de costas. O homem que o acompanhava recuou para a parede, apavorado. Vasco avançou para ele e soqueouIhe a cara, uma vez, duas... Quando ia dar o terceiro soco, sentiu uma dor aguda na coroa da cabeça e caiu sem sentidos. A ordenança ferira-o com a coronha do revólver. O prefeito se erguia, já de arma na mão. Nesse instante, de trás do automóvel surgiu um vulto. Era Xexé. Vinha de revólver na mão. Ouviu-se uma detonação. O prefeito deixou cair a arma e segurou o braço, gritando:
- Me balearam, os bandidos!
Entrincheirado atrás do muro, a ordenança fez fogo contra o negro. Xexé largou o revólver, segurou o ventre com ambas as mãos e caiu de borco.
De dentro do clube surgia gente. Chegaram dois polícias a cavalo.
- Fui agredido! Canalhas! Fui agredido! - vociferava o prefeito, olhando para o sangue que lhe escorria do braço, pingando no chão.
Sem fala, seu companheiro olhava aparvalhado para todos os lados.
Levaram o prefeito para dentro do clube. O ecónomo, muito pálido, foi buscar um copo dágua. Um senhor gordo e prestimoso chamou um médico pelo telefone.
Abriam-se as janelas das casas vizinhas, onde apareciam caras assustadas. No meio dum grupo, a ordenança contava e recontava o caso, atabalhoadamente, e já inventando pormenores... Já se falava na traição. Sim, tinha sido uma cilada. Covardes! Houve um princípio de manifestação de apreço ao prefeito. Quando o médico saiu do clube, perguntaram-lhe como ia ”a vítima”.
- Não é nada - disse o doutor. - Ferimento leve. Nem pegou o osso.
Um sujeito espigado, que era candidato à vaga de contínuo na prefeitura, soltou um viva, erguendo o chapéu:
- Viva o Major Anaurelino Bragança! Alguns vivas chochos soaram em resposta.
O médico examinou casualmente o corpo de Xexé e declarou que o negro ”estava liquidado”. Levaram-no numa carroça, como um cachorro a que o fiscal tivesse dado bola.
O Dr. Penaforte apareceu mais tarde e se encarregou de Vasco, levando-o ainda desacordado para casa.
No lugar onde caíra o negro, via-se um pequeno lago de sangue.
A multidão aos poucos se dispersava. As estrelas brilhavam tranquilas.
Os dois cavalos de fogo corriam pelo campo de fogo. Um era negro, o outro vermelho. Fugiam ambos da floresta da morte onde as árvores queriam esmagá-los. Que angústia, a gente sentir que a própria cabeça é um dos cavalos de fogo, o cavalo preto que dispara sem rumo! E o cavalo preto dói, arde, queima! Se ao menos parasse de doer... O cavalo preto tem sede mas no campo de fogo não há água! Quero água! Dêem água para o cavalo preto! E aos poucos
cavalo preto cessa de doer, parece que a corrida vai parar... Mas a cabeça agora é o cavalo vermelho que dói, que queima, que arde. Se dessem água para o cavalo vermelho.
Água! Água! Os cavalos correm e resfolegam e a gente sente na cara o bafo de fogo das duas bestas que ardem, que doem, que queimam. Tudo é névoa no mundo, não há mais sol e nem haverá nunca mais tranquilidade. Os cavalos suam. O suor escorre pelo corpo da gente, quente, viscoso, escuro, amargo. Depois aparecem monstros vermelhos, com caras misturadas, a cara do prefeito acendendo um cigarro, o olho de João de Deus. Oh! Por que é que fui tão mau que esmurrei o olho ferido dum defunto?! Sou um cavalo bruto de fogo! Me dêem água para eu ressuscitar! Estou no fundo do rio, preso em cipós, preso por um polvo, quero pensar, ver claro, quero água, porque o rio é de fogo. Os cavalos pretos correm, os monstros vermelhos - o prefeito, o amigo do prefeito, Xexé com o quepe nos olhos, nos olhos esmurrados...
Tudo negro. Tudo confuso. Tudo escaldante. As pedras doem. As casas doem. As árvores doem. O mundo inteiro dói, como uma enorme cabeça latejando. Água! Água e luz!
Quando a febre cessou, Vasco pediu água.
Deram-lhe um pouco de água mineral. Ele bebeu, sôfrego. Doía-lhe a cabeça. Quando abriu os olhos, custou-lhe compreender o que se passava. Fez um esforço, que lhe aumentou a dor. Procurou vencer a tontura, a névoa. . .
Isso foi no princípio da noite. De madrugada surpreendeu-se ao acordar com uma sensação de frescura. O médico tomou-lhe o pulso, pôs-lhe um termômetro sob a axila. Sorriu satisfeito para D. Clemência.
- Vai linda a coisa - disse.
E estas palavras simples deixaram Vasco pensando, pensando... Eram um mistério. Prendiam-se a algum acontecimento, tinham um significado. No entanto ele não atinava com nada...
Tornou a dormir. Na manhã seguinte despertou com sede, os lábios gretados e ardidos. Viu Clarissa à cabeceira da cama. Ficou olhando para ela, esperando um auxílio. A brisa fresca da manhã entrava pela janela.
O médico apareceu às nove horas. Pediu-lhe que não fizesse nenhum esforço de memória, que não procurasse falar. Informou-lhe que tudo estava bem.
Mandou dar-lhe leite. Das onze às quatro, Vasco dormiu profundamente e teve sonhos agitados. Acordou de boca amarga e o corpo dolorido. A cabeça ainda lhe doía. A febre voltou, para desaparecer por completo de madrugada. Clarissa e D. Clemência se revezavam à cabeceira do doente. Os cavalos de fogo assombravam ainda o sono de Vasco. Às vezes, de olhos abertos, ele continuava a ver as figuras do sonho e misturava-as com as da realidade. O médico aparecia para fazer-lhe curativos. Nessas ocasiões Clarissa não tinha coragem de ficar no quarto. Descia para o pátio, para bem longe, e era-lhe insuportável a ideia de que o primo estava sofrendo ...
Vasco agora lembrava-se de tudo. Fazia perguntas. As mulheres lhe escondiam o que se passara com Xexé. No dia em que Pio e Cleonice foram visitar o doente, D. Clemência sussurrou-lhes à porta:
- Bico calado, hein? Não falem na história do Xexé. Ele não sabe que o negrinho morreu.
Passavam-se os dias. A febre não voltou. Vasco começava já a aborrecer a cama. Precisava caminhar. A prisão o enervava. Uma tarde discutiu com o médico:
- Mas, doutor, eu estou bom!
Pequeno e nervoso, sacudindo a perna, o Dr. Penaforte replicou:
- Não seja incomodativo, menino! Fique quieto. Você não é diferente dos outros. Tenha paciência, ora essa! Tenho um cliente que faz seis anos que está na cama.
- Posso ler?
- Não pode.
- Que é que vou ficar fazendo?
- Contando as tábuas do teto.
O Dr. Penaforte fechou a maleta, com um estalido, apanhou o chapéu e saiu sem se despedir de ninguém.
Vasco sorriu. E Clarissa sorriu também por ver o primo convalescendo.
Era como uma ressurreição. A primeira vez que pôde comer sem restrições, Vasco sentiu uma alegria efervescente.
Comprazia-se em ficar longo tempo debaixo do chuveiro. Caminhava pelo quarto. Lia. Desenhava. (Os desenhos lhe saíam trêmulos: a mão estava fraca, a cabeça ainda estonteada.)
Clarissa vinha às vezes conversar. Não se falava mais nos mortos. Conversavam sobre livros, pequenas coisas impessoais: o tempo, a cor do céu, o enredo dum romance.
Sentado numa poltrona perto da janela, a cabeça reclinada para trás, Vasco sentia no corpo, um torpor bom, uma sensação de leveza. O vento no rosto, temperado de perfumes agrestes bafejava-lhe o rosto.
Aos poucos ele recuperava as forças, ensaiava as primeiras descidas. Olhava-se no espelho e achava-se menos pálido.
Um dia estranhou:
- Aquele patife do Xexé ainda não apareceu. Negro ingrato!
Clarissa fez um esforço para não se trair.
- É isso - troçou Vasco. - Negro quando não morre em pequeno dá incômodo depois de grande ...
Clarissa desceu, tristonha, e foi aconselhar-se com a mãe.
- Mais tarde ou mais cedo a gente tem de contar tudo pra ele ... - opinou D. Clemência.
- Eu não tenho coragem, mamãe.
- Pois eu tenho.
Subiu resoluta, entrou no quarto do rapaz, e encontrouo estirado na cama, lendo.
- Como vai?
- Indo.
- Tem tomado o remédio?
- Direitinho. Pergunte à Clarissa.
- bom. Vasco...
- Que é?
A mulher hesitou. Não sabia por onde começar. Não era propriamente falta de coragem. É que não tinha jeito . .. Não queria ser rude. Podia dizer sem rodeios: ”Quando você caiu desmaiado, Xexé apareceu, feriu o prefeito e foi morto pela ordenança dele”. Mas era duro.
O rapaz esperava.
- Tenho uma coisa pra te dizer...
- Diga então ...
Vasco jogou as pernas para fora da cama e ficou esperando.
- É melhor você ler o jornal...
- Clemência saiu e voltou dali a pouco com um jornal do dia seguinte ao do conflito. Tinha-o guardado debaixo do colchão.
- Não te afobes. Lê isto... Eu queria te dizer mas acho melhor tu ficares sabendo pelo jornal...
Quando tornou ao quarto do rapaz poucos minutos depois, encontrou-o chorando. Ao vê-la entrar, Vasco enxugou disfarçadamente as lágrimas. Ficaram os dois em silêncio por alguns segundos.
- Queres o leite agora, Vasco?
- Não, obrigado.
- Leu?
- Li.
As lágrimas lhe escorriam pelas faces. E ele via que D. Clemência estava vendo. Teve vergonha. Um homem chorando . .. Desculpou-se:
- Quando a gente está convalescendo duma doença, chora por qualquer coisa . . .
- Eu também fiquei com muita pena do Xexé.
- Não choro de pena - mentiu ele. - Choro de raiva desses bandidos. Para mim, depois daquele soco, era como se o prefeito estivesse morto. Eu tinha esquecido tudo. Agora esta notícia infame me fez ficar com raiva de novo. Dizerem que a gente tinha combinado tudo... Chamarem o negrinho de ”bandido e desordeiro contumaz” ...
- Não há de ser nada, menino - murmurou D. Clemência numa tentativa de consolo.
Vasco ergueu-se. O jornal caiu-lhe aos pés, amassado. Ele olhou através da janela o céu muito azul e sentiu de novo uma enorme vontade de ir embora...
Janeiro findava.
No casarão a vida se arrastava tristonha e repetida.
Apareciam as contas. Farmácia, padaria, armazém, alfaiate. (Uma fatiota que João de Deus fizera para as eleições.) Um dia um portador trouxe um envelope branco com estes dizeres impressos em letras vermelhas: PANIFICADORA ITALIANA, de Gambá & Filho. D. Clemência abriu-o e leu a carta:
Viuva João de Deus Albuquerque.
Sentimos ter de comunicar-Vos que tendo vencido-se a hypotheca da casa em que mora V. Excia. e o fáto de não ter o vosso falecido esposo effectuado o pagamento da mesma, nos vemos forsados a executar a dita hypotheca pelos canais competentes. O nosso advogado procurarvos-há para tal fim e como prova de nossa boa vontade e consideração despensamos os juros. Saúde e fraternidade.
Vittorio Gambá assinava a carta com sua letra de colono.
- Clemência ficou perturbada. Mostrou a carta a Vasco. Mandou chamar o Dr. Penaforte, velho amigo da família, para lhe pedir conselho. O médico veio, inteirou-se do assunto e opinou, seco:
- Não há remédio. Entregue a casa. Os homens foram até tolerantes...
- Clemência lembrou-se do dia em que Vittorio Gambá chegara a Jacarecanga - pobre imigrante italiano, esfarrapado e sem vintém. O velho Olivério, pai de João de Deus, muitas vezes lhe dera dinheiro... Os anos passaram, o italiano progrediu, os filhos de Olivério hipotecaram-lhe suas casas... E estas, uma por uma, foram passando para a propriedade do gringo. Agora lá se ia também o casarão...
Ficaram todos em silêncio. O Dr. Penaforte sacudiu a perninha magra. Se se tratasse dum tumor, ele lhe passaria a lanceta. Se fosse uma dor de cabeça, receitaria aspirina. Se fosse tosse, Xarope de Mel, Guaco e Agrião. Se fosse alguma doença mais séria, pediria uma conferência com os colegas da cidade. Num caso de parto, chamaria D. Glória, parteira de mão-cheia, e tudo ficava em ordem. Para aquele caso, entretanto, não havia remédio...
- É. Vocês têm de entregar a casa.
Botou o chapéu e se foi, deixando D. Clemência e a filha desconsoladas.
Vasco foi procurar o velho Gambá. Encontrou o filho, que fora seu companheiro de infância. Tinha o rapaz um pé torto e não perdoava aos que não sofriam do mesmo defeito.
Vasco foi logo dizendo:
- Olha, Gustavo, nós recebemos a carta de vocês. Está certo. Só queremos um prazo pra deixar o casarão. Não podemos sair assim a toque de caixa.
O outro ficou desconcertado:
- Não, Vasco. Podem ficar dez, quinze, vinte dias, até um mês, aquilo foi só um aviso. Você viu, nós até não cobramos os juros.
- Então, podemos ficar ainda uns dias?
- Ué... Podem, ninguém está enxotando...
- Está bem. Dentro de quinze dias vocês têm o casarão.
Saiu sem apertar a mão do outro.
Uma noite, no casarão, com Cleonice e Pio, D. Clemência e Clarissa discutiram o futuro da família. Cleonice era de opinião que deviam ficar todos em Jacarecanga. Clarissa procuraria alunos particulares, Clemência costuraria para fora, Vasco arranjaria um emprego... Mas Pio sacudiu a cabeça com vigor.
- Não senhola. Eu acho que elas devem il pia Santa Clala. Um oldenado celto é semple um oldenado celto. Não deixes o celto pelo duvidoso.
Estava judicioso aquela noite. Brincando com a medalha da corrente do relógio, defendia o seu ponto de vista com os olhos voltados para o futuro. Se aquelas mulheres ficassem em Jacarecanga, acabariam metidas na casa dele, a comer as suas sopas e, quem sabe? a pedir-lhe dinheiro emprestado. Não. Ele não queria arriscar-se... Ganhava pouco, precisava fazer economias, não podia ter mais bocas, mais gente à sua mesa.
Cleonice insistiu:
- Por mim, vocês ficam. Se é por casa... (Pio sentiu um desfalecimento)... vocês alugam uma bem baratinha. .. (Pio respirou, aliviado.)- Lá perto da nossa tem uma de cento e dez mil-réis, bem boazinha, não é, Pio?
Ele confirmou com um sinal de cabeça.
No meio da discussão Vasco apareceu e, inclinando-se sobre a cadeira de D. Clemência, disse:
- Ninguém pediu a minha opinião mas eu vou dar... Agora vem este maluco... - pensou Pio.
- Luta por luta, luta-se em qualquer parte. A se passar dificuldade em Santa Clara, passa-se em Porto Alegre com mais probabilidade de se arranjar vida melhor. O que eu proponho, D. Clemência, é a gente ir pra capital. A senhora costura, a Clarissa leva daqui uma boa carta de recomendação e vai tentar a transferência dela pra um colégio de lá. Eu procuro um emprego, seja lá o que for. Que acham?
Um silêncio frio como que emparedou suas palavras. Para D. Clemência, Porto Alegre era uma cidade enorme, impiedosa, cheia de perigos, dificuldades e sustos. Era verdade que tinha lá uma irmã (a mais velha) dona da pensão em que Clarissa se hospedara quando estudava na Escola Normal. Nunca, porém, lhe passara pela cabeça mudar-se para a capital.
- Que é que achas? - perguntou Vasco, olhando para a prima.
Clarissa estava já a imaginar a vida nova. Viver em Porto Alegre! Não separar-se do primo... Vê-lo trabalhar, progredir, ganhar nome... Fugir de Jacarecanga! Fugir dos mortos! Não separar-se de Vasco! Estar sempre ao lado dele...
O seu sorriso estava contando que ela achava o plano maravilhoso.
Pio fez uma careta:
- Eu já disse... Pol mim elas vão pia Santa Clala. Não deixes o celto pelo duvidoso.
Vasco apelava para as mulheres. Só Clarissa parecia ampará-lo. D. Clemência deu a sua opinião definitiva num suspiro que tanto podia ser de protesto como de resignação. Cleonice continuava a achar que a irmã e a sobrinha deviam ficar. A terra da gente é sempre a terra da gente.
Vasco sentiu uma certa frieza no ambiente. Sorriu para a prima e caminhou para a rua. Estava possuído pela ideia... O seu sonho não cabia no casarão. Para contê-lo era preciso o mundo, o ar livre...
Procurou as estrelas, suas velhas amigas.
Naquela mesma noite, quando as mulheres se preparavam para deitar e ele já se encontrava no quarto, escrevendo, ouviu-se um tiro. No silêncio do casarão a detonação acordou ecos.
Vasco pensou em Clarissa e desceu aflito, a correr.
Clarissa pensou em Vasco e abriu a porta do quarto, com o coração aos pulos. Vendo o primo que descia, tranquilizou-se. Pensaram ambos em Jovino. Precipitaram-se escada abaixo. D. Clemência atravessava a sala com a mão no peito.
- Mamãe! - gritou Clarissa, imaginando-a ferida. D. Clemência apontou para o quarto de Jovino:
- Acho... que... foi ele... - balbuciou, arquejante.
Vasco correu para a porta, torceu o trinco. Fechada! As mulheres tinham olhos muito abertos, o olhar medroso. Vasco bateu. Pausa. Nenhuma resposta. Tornou a bater.
- Jovino! - gritou. - Que é isso? Abra!
Nada.
Outro suicídio - pensou ele. E a ideia deixou-o gelado. Nem ousava olhar para a prima. Hesitou por um instante. Depois meteu o ombro na porta, com força a primeira vez; com mais força na segunda; desesperadamente na terceira. A porta cedeu e ele quase caiu de cara no chão. Dentro do quarto um toco de vela ardia no castiçal de louça, em cima da mesinha de cabeceira. Jovino estava estendido na cama, com o braço direito caído. Morto? Vasco baixou os olhos e viu um revólver. Inclinou-se sobre a cama e sacudiu o homem com fúria.
- Jovino! Jovino! Jovino!
Enquanto gritava, frenético, procurava com os olhos e com os dedos o sangue, a ferida...
Na soleira da porta, transidas e mudas, as mulheres não tinham coragem de entrar.
Vasco tomou da mão do primo. Estava quente ainda.
- Jovino - murmurou, já sem esperança.
Então o outro roncou, ergueu um braço, fez um sinal para a parede e rosnou uma palavra ininteligível. Vasco aproximou o ouvido da boca dele.
- Que foi que houve?
- Bem no olho - murmurou Jovino com voz arrastada. E suas palavras cheiravam a cachaça. Sua mão mostrava a parede.
Vasco olhou, e viu um papel contra a superfície caiada. Apanhou-o. Era um recorte de jornal com um retrato do prefeito.
- Dei... um tiro... bem no olho... do desgraçado...
No reboco havia um buraco. Vasco aproximou-se e viu
a bala cravada nele. Respirou, aliviado. Apanhou o revólver e explicou às mulheres o que tinha acontecido.
Silêncio de novo no casarão.
Clarissa e a mãe foram deitar-se mas nenhuma delas conseguiu dormir senão muito tarde, já madrugada alta.
Vasco ficou à janela de seu quarto a olhar o luar. Passou longe uma serenata. Via-se a lua cheia por entre os ramos dum cinamomo. O vento era fresco. Um cachorro uivou numa rua distante. Vasco lembrou-se de Xexé e sentiu uma apertura na garganta.
Sou uma vaca sentimental! - concluiu. Teve raiva de si mesmo. Começou a assobiar, para disfarçar. Abriu um livro: jogou-o longe pouco depois. Tornou a debruçar-se à janela.
A noite azulada e transparente, as árvores paradas, o pátio cheio de mistérios e de luar.
Vasco sentiu-se velho e cansado como o casarão secular. Teve então um desejo enorme de dormir, dormir muito, para abrdar num mundo melhor ou então não despertar mais.
No dia seguinte às duas da tarde bateu à porta do casarão um mulato magro e ainda moço que trazia um recado:
- Seu Vasco, o general mandou lê chamar.
- Que general?
- O Gen. Campolargo. Vasco franziu a testa.
- Mandou chamar a mim?
- Mandou.
- Tem certeza que sou eu mesmo? O general quer falar comigo?
O mulato era atrevido.
- Decerto eu to loco, não é? Pois é ... To loco, to caducando como ele . . .
- Mas . . . Não sabe o que ele quer?
- Quem sabe é os bugre de Nanoai . . .
Esta era uma expressão muito sua que queria dizer: ”Nem o diabo sabe”.
Vasco ficou indeciso por um instante.
- Ele quer falar comigo, hoje?
- Ué... hoje? Não. Vá pro ano que vem, se o general não esticar a canela até lá...
- Está bem. Diga que já vou...
O mulato saiu assobiando, num passo miudinho. Vasco procurou Clarissa e D. Clemência:
- Sabem da última? O Gen. Campolargo quer falar comigo...
As mulheres também estranharam. Seria possível? Vasco teve de repetir o recado. Duvidaram. Era a coisa mais absurda e inesperada do mundo.
O rapaz subiu para o quarto a pensar no convite. Botou a gravata, vestiu o casaco, penteou-se e saiu. Fazia sol. Céu desbotado com algumas nuvens. Vasco seguia com a sua sombra e os seus pensamentos. Tudo aquilo era extraordinário, inesperado, engraçado até.
O Gen. Campolargo era quase uma figura de lenda. O Papão. O Bicho Tutu. Um homem de fama negra. Diziam que na Revolução de 93 mandara degolar destacamentos inteiros de federalistas. Contavam-se dele coisas horrendas, crueldades requintadas. Fora o homem mais temido nos seus tempos de mando e prestígio. Sua voz era ouvida em todo o Estado. Em Jacarecanga durante trinta anos wnguém ousara fazer-lhe oposição. O general esmagava Qualquer tentativa de desobediência. Mandava empastelar jornais, surrar jornalistas. Era mau, despótico, ditatorial. Bastava não gostar da cara duma criatura para expulsá-la da cidade, do município, com o lombo marcado. Fazia, o que queria dos juizes, promotores; dispunha da vontade dos jurados. Absolvia e condenava quem e quando queria. Justiça? Quá-quá-quá! A justiça única que existia em Jacarecanga chamava-se Justiça Campolargo. E ao redor dele se formou a lenda pavorosa. As mães não assustavam mais os filhos com o Boitatá. Diziam: ”Se o nené não dormir, mamãe manda chamar o Gen. Campolargo”. A revolução de 23 pegara o general já velho. Mas ele saíra de sua toca para ”defender mais uma vez a Legalidade” segundo suas próprias palavras. Vestira o velho uniforme de alamares e dragonas douradas. Mal podia manter-se em pé. Estava inválido. Mas a palavra ”revolução”, o cheiro de pólvora e sangue lhe deram forças. O velho general ressurgiu. E, passada a revolução, em Jacarecanga se contavam em murmúrios medrosos as novas crueldades. Uma família degolada: pai, mãe, duas filhas e uma criança de colo. Um oficial inimigo, que se entregara confiante, fuzilado pelas costas. ”Dêem o alívio no patife!” Era a ordem para degolar.
Depois, o tempo passou. Reviravoltas na política: o velho soldado teve o seu prestígio abalado. Recolheu-se. Ficou morando com a filha única, casada com um advogado. Jacarecanga esqueceu quase por completo o seu monstro. O general era agora uma peça de museu. Uns falavam nele ainda com um vago orgulho; outros com um vago temor. E todos sabiam que o velho se finava aos poucos, em meio, decerto, de visões pavorosas. Ou talvez não conhecesse o remorso. Os poucos amigos que o visitavam contavam que ele parecia um leão velho e pesteado em quem todos os burros agora davam coice. Narravam minúcias de seu sofrimento, da sua lenta dissolução. O bandido não morria - afirmavam - apodrecia em vida. Viúvas de federalistas que Campolargo mandara matar, murmuravam, satisfeitas: ”Nesta vida se faz, nesta vida se paga. A hiena está vivendo pra purgar os seus pecados”.
Vasco conhecia a sombria legenda. Muitas vezes, quando criança, as criadas ou mesmo D. Clemência o ameaçavam com o nome do feroz façanhudo general.
Agora ele caminhava a pensar em todas essas coisas. Que quereria com ele o caudilho? Nunca o vira. Sempre achara pouco provável que o velho tivesse notícia de sua existência.
Parou na frente da casa do genro do general. Hesitou. E se tudo fosse um trote do moleque?
Bateu na porta. Veio atendê-lo uma mulher enorme, de seios fartos é olhos gulosos. Tinha uma voz máscula e um ar agressivo. Vasco a conhecia de vista. Era a filha do velho.
- Boa tarde - cumprimentou ele. - Não vê que... A mulher cortou-lhe a palavra:
- É o Vasco, não é? Eu sei. Entre.
Levou-o para a sala de visitas. Quadros com molduras douradas, toalhas de damasco, bibelôs em quantidade, um piano, tapete com desenhos orientais, uma imagem do Sagrado Coração, um espelho...
- Sente-se!
A voz era autoritária: não admitia recusa. Vasco sentou-se. Suava, sentia-se mal. A mulher o examinava da cabeça aos pés com olhos ávidos.
- O papai mandou lhe chamar por causa daquela história com o Major Bragança...
- Ah...
- Nós lhe contamos tudo e o velho disse: ”Mandem me chamar esse moço, quero falar com ele”. Então eu mandei lá o Nicanor lhe chamar...
Os seios arfavam. As narinas palpitavam.
- Pois eu estranhei...
Silêncio. Por que será que ela não me leva para o quarto do velho?
- Você não repare... O papai está caducando um pouco. Se ele lhe disser alguma coisa, não ligue... O coitado não regula bem.
Vasco começava a ficar inquieto. Estava sentado no sofá e a mulher numa poltrona, a pouca distância dele. Aqueles olhos...
Mas por que será que ela não me leva ao quarto do homem?
- Então, como vão todos? - perguntou a mulher.
- Muito bem, obrigado.
Ela olhava para os lados, inquieta, como que pressentindo algum espião.
- Já tem namorada?
A pergunta era fora de propósito, infantil, besta. A filha do general estava sentada de pernas abertas. O vestido subira um pouco para cima dos joelhos, mostrando uma nesga da coxa.
Silêncio. Ele tentou:
- Onde é que está o general?
- Ah! - Levantou-se. - Faça o favor. Seguiram por um corredor sombrio. Ela caminhava na
frente, suas ancas rebolavam dum lado para outro numa mole abundância de carnes. Vasco enxugou o suor do rosto. De repente a mulher parou, voltou-se, brusca, e abraçou-o com fúria, beijou-lhe o rosto, procurou-lhe a boca, ao mesmo tempo que dizia: ”Por que é que você é tão bonito, hein?” Ele recebeu passivo as carícias que não pedira nem desejara. Perdeu o equilíbrio, e caiu contra a porta.
- Quem é? - perguntou uma voz rouca e longínqua, que parecia estar falando do alto duma montanha. - Quem é?
Vasco se defendia, afastava a mulher com os braços. Ela serenou de repente.
- Sou eu, papai. Meteu a cabeça para dentro do quarto. - O moço está aqui. Pode entrar? Venha, seu Vasco.
Apertou-lhe forte a mão e empurrou-o para a frente. Vermelho e tonto, Vasco se viu de repente na toca da hiena. Um cheiro insuportável: mofo de móveis, panos e papéis velhos misturados com um fartum de humanidade em dissolução.
No primeiro instante não viu ninguém. Quando os seus olhos se acostumaram à sombra, discerniu a um canto do quarto um vulto. Era o general. Estava sentado numa poltrona, todo encolhido, com um xale sobre os ombros e um bastão grosso na mão.
Vasco ficou imóvel. A mulher assustara-o com a sua agressão: deixara-o a um tempo excitado, enojado, cheio de raiva e confusão.
Mas ali estava o general...
- Sente, patife!Sst!- O velho sibilou como uma cobra. - Sente. - Falava ligeiro, como um chinês a soltar os seus monossílabos.
Vasco procurou uma cadeira. Achou, sentou-se.
- Abra um pouco a janela, sst! Quero ver essa cara. O rapaz ia escancarando a janela quando sentiu um
golpe nos dedos. O velho lhe batera com o bastão:
- Eu disse um pouco, canalha! Ssst! - Sibilou de raiva. - Patife!
Um farrapo de sol entrou pela fresta. O quarto ficou mais claro e Vasco pôde ver melhor a cara do general.
A cabeça, cidra murcha, lembrava a de uma múmia. Sobre a calva dum rosa sujo amontoavam-se falripas brancas. O rosto, dum amarelo doentio, estava pregueado de rugas terrosas. Os zigomas salientes pareciam querer furar a pele. A boca cruel já não tinha mais desenho certo. O nariz afilado era transparente e arroxeado como o dum defunto. Mas foram os olhos que mais forte impressão causaram em Vasco. Eram uns olhos perversos, olhos de crocodilo, velados por uma película que lhes dava uma qualidade fosca.
- Chegue-se! - sibilou o velho.
Vasco aproximou-se mas ficou alerta, com o olho no bastão.
Silêncio. Os olhos de sáurio analisavam o rapaz
- O senhor mandou-me... - começou este.
- Cale-se! Ssst! - Bateu nervoso com o bastão no soalho. - Patife! Continência! Sentido! Quemmanda aqui sou eu!
A voz se sumiu num ronco e o velho começou a arquejar. Os olhos pareceram mais velados.
Vasco mal ousava respirar aquele ar pestilencial. Depois dum instante, remota e pálida, ouviu-se a voz.
- Então, agrediu o Bragança, hein? Agrediu o Bragança, hein? Quebrou-lhe a cara?
Desatou a rir um riso fininho, sumido, sincopado.
- Eu...
Cale-se! Não se justifique. Um homem não se justifica! Patife! Assuma a responsabilidade de seus atos! Ssst! Silêncio. Vasco olhava em torno. Havia a um canto um busto do Patriarca. Uma cômoda antiga. Um mapa do Rio Brande do Sul na parede. E emolduradas num quadro, as medalhas do general. Uma cama de casal, antiquíssima, de pau lavrado. Um baú com fechos de couro. Retratos nas paredes.
- Então foi bem na cara não? E o patife gritou? Fugiu? Vasco lembrou-se de que o general odiava o prefeito.
Não se conformava com o seu ostracismo. Os prefeitos sempre lhe haviam dado cega obediência. Agora ele estava na dissidência... Odiava o Major Bragança.
- Tapei-lhe o olho com um soco - disse Vasco, com irritação.
- Pois fez mal! Portou-se como um idiota! Bem mostra que é Albuquerque. Conheci o Olivério. Que homem impossível!
Vasco teve ímpetos de soltar um palavrão. O general continuou:
- Por que não lhe meteu o punhal? Por que não lhe meteu uma bala? Porcalhão! - Estendeu o bastão, agitou-o no ar, procurando atingir Vasco, que se ergueu num pulo, gritando:
- Não sou bandido como você, ouviu? E não berre que não sou surdo.
O Gen. Justiniano sibilou, furioso. Atirou o bastão como um dardo contra o rapaz. Vasco quebrou o corpo e livrou-se do golpe. Ficou de longe, ofegante, agarrando a guarda da cadeira, numa atitude de defesa. Aquilo não era uma jaula? O general não era uma hiena?
O velho arquejava. Um ronco de morte lhe escapava do peito. Os olhos de sáurio se cerraram por um instante.
Houve uma pausa longa. Vasco tornou a sentar-se.
Pensou em ir embora. Sairia sem dizer nada. Não era peteca. Se o velho quisesse brincar, que escolhesse outro...
- Canalha... Quantos anos tem?
- Vinte e dois.
- Nos cueiros, nos cueiros... Estou com noventa e dois... Chegue-se... Chegue-se...
Vasco aproximou-se, cauteloso.
- Vocês todos são uns galinhas... - disse o caudiIho com voz sumida. - Homens eram os de antigamente. Hoje está tudo perdido. Não há mais autoridade. Não há um macho que mande. Patifes! Canalhas! Inimigo não se poupa! - Fitou o olhar gelatinoso na imagem do Patriarca. - Agora falam em igualdade... Xô égua!
- Os tempos mudaram, general... O velho soltou uma cusparada.
- Mudaram qual nada! É que não há mais homens... Deram o alívio no João de Deus, hein? Me contaram. Bem no olho. Ssst! Patifes. E você só dá um soco no olho do sacripanta que mandou matar o seu parente... Xô égua! Devia era dar-lhe outro tiro no olho!
- Violência só puxa violência, general...
- Vá pro inferno! Me dê a bengala... Uns medrosos é que vocês são... Me dê a bengala, eu disse!
Vasco obedeceu. As mãos lívidas do caudilho acariciaram o bastão.
- Você nasceu ontem, fedelho de borra. O que vale é a força. - Baixou mais a voz, como numa confidência.
- Um homem só é respeitado quando se impõe pela violência. Não vá atrás de lerias... Inimigo não se poupa...
- Sibilou e fez com o dedo indicador no pescoço um simulacro de degola. - Inimigo morto é perigo afastado. O mais forte arrasta as fichas. Ssst!
Vasco estava cansado. A voz rouca, velha e seca no quarto sombrio. Os móveis antigos. O cheiro nauseante. A cara de múmia, os olhos frios e maus de sáurio.
- Fui mandachuva. Ninguém me pisou no pala, nunca! Deus me castigou, não me deu nenhum filho macho, só um rabo de saia que não vale um patacão... Só sabe fazer croché... O marido é um beldroegas, tem a mania da igualdade, da democracia... Raça de maricas! Não há mais homem que preste...
Vasco sentiu uma dor aguda na mão: o velho lhe cravava nas carnes as unhas aguçadas. O rapaz saltou a tempo de livrar-se duma nova porretada.
Teve um desejo de ser cruel, de fazer a hiena sentir a sua impotência, a sua senilidade irremediável, a proximidade do fim... Mas de certo modo aquele molambo humano o penalizava.
Ouviu um ruído macio, iniludível. Viu que do assento da cadeira do general escorria para o chão um liquido que nao lhe custou identificar. Um ativo cheiro amoniacal se espalhava pelo quarto.
Vasco olhava... O feroz Gen. Justiniano Carnpolargo aos noventa e dois anos voltava ao estado de bebê. Alguém precisava vir maternalmente mudar-lhe os cueiros.
Ali estava o degolador, o ditador de Jacarecanga, o temível chefe político, o vencedor de muitas batalhas, um dos pilares mais fortes do antigo partido... Aquilo era mil vezes pior que a morte.
De pernas abertas e cabeça atirada para trás o general choramingou:
- Nicanor! Nicanor! Chamem o Nicanor! Onde andará esse mulato patife que não vem me limpar? Vicentina! Nicanor!
Debaixo de sua cadeira formara-se um lago escuro.
Vasco saiu apressado do quarto, sem voltar a cabeça. No corredor ouviu ainda a lamúria do velho.
De novo na rua, respirou fundo. Queria que o ar livre lhe limpasse os pulmões. Sentia-se contaminado. Se tivesse permanecido por mais tempo na toca do general, ficaria com cem anos na alma e talvez perdido para sempre.
Mas agora via o céu azul, a luz dourada do sol. Aspirava o vento que recendia a campo. Uma nuvem branca no horizonte lembrava-lhe um gigantesco veleiro. Sim, havia também o mar... O mundo largo, colorido e vário. Ilhas varridas por todos os ventos... A cidade misteriosa de seus sonhos... E a aventura.
Vasco caminhava. O mundo ainda era belo, apesar do general, apesar da ideia da velhice e da morte, apesar de tudo quanto pudesse haver de sujo, doentio e absurdo.
O vento esfiapou as velas do navio celeste. Um preto passou carregando um cesto de laranjas. Uma criança descalça atravessou a rua correndo. Alguém cantou... onde? Havia rosas brancas e vermelhas num jardim. A vida era boa.
Vasco começou, então, a sentir uma fúria no peito, uma vontade de correr, cantar, gritar.
Sim, agora via o milagre de ter vinte e dois anos, de sentir os músculos rijos, as pernas ágeis, de poder correr e amar, desafiar o vento, as distâncias e até o destino.
Como pudera ficar tanto tempo entregue à dúvida e ao desânimo? Como?
A fúria crescia. Vasco acelerou o passo. Afrouxou o nó
da gravata. Sentia no corpo um formigamento quente. Tinha medo de fazer alguma asneira. .. Pular aquele gradil e esmagar com os dentes as rosas do jardim... Beijar a rapariga que estava debruçada à janela. Gritar qualquer coisa sem nexo para o céu.
Precisava fugir de Jacarecanga, levando Clarissa, levando D. Clemência. Podia salvá-las. Podia salvar-se. Obrigado, general, obrigado!
Da plataforma do último carro Vasco olhava Jovino, Cleonice e Pio, que iam ficando para trás, na estação, parados, tristonhos, cinzentos. O trem rodava devagar. Jovino tinha os olhos inchados de tanto chorar, estava barbudo, torcia entre os dedos o lenço encardido. Cleonice acenava com a mão magra e amarela. Pio erguia no ar o seu chapéu carteira.
Vasco teve a impressão de que estava à amurada dum navio que se afastava da terra, deixando três náufragos na ilha deserta, sem viveres, sem abrigo, sem esperança, sem nada. E os três vultos iam recuando, recuando cada vez mais. E apesar das muitas pessoas que se agitavam ao redor deles - não deixavam de ser náufragos abandonados. Sempre para trás, para trás. ..
Vasco estava comovido. Baixou os olhos para os trilhos reluzentes. A marcha do trem se acelerava. Ergueu o braço num sinal de despedida. Por um instante sentiu-se criminoso. Podia ter trazido Jovino. Que vida seria a do pobre homem em Jacarecanga sem parentes e sem amigos? Pio o detestava. Cleonice não tinha com ele nenhuma ligação nem de sangue nem de simpatia. Jovino ficaria abandonado como um cachorro sem dono. Bebendo, pedindo dinheiro emprestado, chorando. Acabaria na sarjeta. Tinha sido justo deixá-lo ao desamparo? Mas se ele viesse seria um peso, um fardo difícil de carregar, um empecilho à vida nova. Jovino estava morto e não sabia.
Já não se distinguia mais nenhum vulto na estação.
O trem entrava no campo. Vasco contemplou a sua cidade. Era absurdo, mas ele já sentia saudade dela. Apesar de todo o seu desejo de fugir. Mau grado toda a angústia que Jacarecanga lhe dava, todas as suas recordações de tristeza e de morte. Olhando, porém, para as casas que branquejavam no meio do arvoredo verde-escuro dos quintais, ele se sentia um traidor por ter abandonado a sua gente - os velhos camaradas de infância, todo o bando que sempre se entregara de corpo e alma ao ”Gato-do-Mato”, seu chefe, e seu guia. Xexé estava enterrado no cemitério. A negra Conca também. Gustavo Gambá agora era rico: havia renegado o bando. E os outros? Os outros a vida levara... No entanto ali na plataforma do trem ele sentia que apesar da passagem dos anos, o seu bando havia permanecido como nos velhos tempos da infância. Ninguém crescera. Ninguém morrera. Todos estavam como antigamente, reunidos à sombra da figueira, esperando o chefe. E o chefe fugia...
Vasco olhou mais uma vez para Jacarecanga e odiou-se por ser tão sentimental. Decerto era o sangue do pai. Contavam que Álvaro Bruno era romântico, de choro fácil, sensibilidade à flor da pele.
Entrou no vagão. Clarissa estava sentada ao lado da mãe, com os olhos vermelhos. Sorriu para o primo. Vasco sorriu em resposta e sentou-se na frente das duas mulheres. Olhou o campo pela janela: as coxilhas que se desdobravam a perder de vista, os postes do telégrafo; uma lagoa, longe; capões como ilhas dum verde mais fundo no meio do verde ondulado dos campos.
Recostou a cabeça no banco, fechou os olhos, deixou o pensamento correr com o trem.
Parecia impossível. Iam seguindo rumo de Porto Alegre. Tudo se havia resolvido com tanta rapidez... Lembrava-se ainda da relutância de D. Clemência. E revia-se falando, gesticulando, pintando para a gente do casarão a nova vida que podiam levar longe de toda aquela miséria, de todas aquelas recordações tristes. Ali não arranjariam mais nada. Haviam de contar sempre com a inimizade do prefeito. Depois, tinham de entregar a casa aos Gambás... O remédio mesmo, era tentar vida nova. Clarissa levaria uma carta de recomendação do Dr. Penaforte ao Secretário da Educação, trataria pessoalmente do seu caso, procuraria tornar sem efeito a sua transferência para Santa Clara, conseguiria um lugar em Porto Alegre. Se não conseguisse... Mas oh! havia de conseguir, nem se podia contar com a hipótese da derrota... E falava, falava, falava ... E a sua fúria - aquela fúria que lhe nascera no peito depois da visita ao general - levava tudo por diante. Depois vieram dias agitados. Vender os móveis, pagar as contas, fazer as despedidas. E ele conseguira contagiar Clarissa com o seu entusiasmo. E as horas se passaram naquele arrebatamento, naquela trabalheira. Depois, quando caíram em si, estavam na véspera da partida. E de repente uma tristeza tomou conta de todos. Ficaram a se entreolhar, calados e a andar pelos cantos... Sim, ele se lembrava daquela noite, na véspera do embarque. Iam principiar vida nova... Mas o diabo era aquele luar no pátio, clareando tudo. E o silêncio cochichando segredos. Ele ficara de sua janela a espiar a noite quieta. A figueira perto do muro, imóvel ao clarão da lua, parecia uma pessoa muito velha, pensando. Cada pedra, cada grão de poeira tinha uma história para contar. Tudo aquilo era saudade antecipada. Ele sabia. E, sabendo, sofria. Mas estava gostando de sofrer. Podia fechar as janelas, sair para a rua, procurar distração. Mas não queria. Preferia ficar com suas feridas sangrando. Imaginava que os mortos aproveitavam o silêncio da noite, a luz do luar para irem passear no pátio. Lá estava João de Deus com a cuia do chimarrão nas mãos calosas. Ele lhe adivinhava a cara enérgica sombreada pelo chapéu de abas largas. Mais ao fundo, debaixo da paineira, estava o negro Xexé que o luar deixava claro como os anjos das litografias. E Amâncio, o que morrera no sanatório, viera também para o pátio, muito magro, tossindo de quando em quando. O velho Olivério apareceu de croisé bem como no retrato do jazigo e os filhos estavam a pedir-lhe a bênção. E Zulmira (como ele enxergava a mãe com realidade, com vida!) de braço dado com vovó Zezé passeava dum lado para outro lendo um romance de amor. Vasco chegou a ouvir quando ela pronunciou a palavra ”coração”. (Ou foi o vento?) Sim. Foi o vento. Porque os mortos não falavam. No entanto, mesmo não falando, contavam, como as árvores e as pedras e os grãos de poeira, as histórias mais tristes e antigas. Sim, aquele luar do pátio tinha amolecido a fúria. Ah! Mas depois viera o sol, o dia novo, a expectativa da viagem. A figueira tinha o tronco enrugado, as folhas sujas. As cercas do pátio estavam apodrecidas. O muro sem reboco. Tudo parecia morto. Clarissa e ele eram moços e queriam viver.
Vasco abriu os olhos. A prima folheava uma revista. D. Clemência tomava um remédio contra enjoo de trem.
Da plataforma do carro Vasco olhava a noite recémcaida. Longe na linha do horizonte se desenhava uma risca irregular de fogo: queima de campo. À beira da estrada negrejou o vulto duma carreta ao pé da qual luzia um braseiro. O vento era fresco e tinha um perfume úmido e doce de mato ao anoitecer.
Vasco olhava, comovido... Nunca sentira em toda a sua vida uma sensação tão funda de abandono, de quietude, de solidão... Era o mistério da terra, daquela terra que se havia empapado do sangue dos degolados de muitas revoluções mas que no entanto se conservava sempre pura e nova. E havia de continuar ali imperturbável e silenciosa quando ele, Vasco, tivesse desaparecido do mundo.
A lua cheia apontou atrás dum capão - enorme disco amarelo.
Vasco sentiu que se quisesse falar não teria voz.
Ficou com um peso aflitivo e absurdamente agradável no peito.
A lua subia aos poucos. Os trilhos corriam vertiginosos. Vultos de animais nas invernadas. Grilos trilando, fagulhas, estrelas.
Amaro Terra não sabia que fazer com o bolo. Na sala da pensão muitos olhos estavam focados na sua pessoa. Ele sentia, mais que via, sorrisos de malícia naquelas caras familiares. E olhava desconsolado para o bolo crivado de velas coloridas que se achava sobre sua mesa. Estranho: no meio da confusão (o rosto e as orelhas lhe ardiam, deviam estar vermelhos) veio-lhe à mente uma imagem triste: velas ardendo em cima duma sepultura caiada. Não era um floreio literário; nem um símbolo rebuscado. Simplesmente uma imagem que brotara natural, como a flor duma recordação. Lembrava-se de que, havia muitos anos, num dia de finados, no cemitério de sua vila...
- Seu Amaro - disse uma voz no meio das risadas
- veja se pode apagar todas as velas dum soprão só.
Amaro gaguejou uma escusa. Estava encabulado.
- Vamos! Experimente ...
Amaro não sabia que fazer. Não era homem para aquelas coisas... Ficou olhando muito desamparado para as chamas das velas, pálidas na claridade do meio-dia.
Não havia remédio. Todos esperavam de olhos postos nele. Suando, meio trêmulo, Amaro inclinou-se sobre a mesa, inspirou fundamente e depois soltou um sopro forte. Seis velas se apagaram: os pavios ficaram a despedir para o teto fios finos de fumaça azulada. As chamas das outras velas dançaram um pouco ao ímpeto do tímido e rápido tufão saído da boca de Amaro, e depois retomaram a posição vertical.
Um dos rapazes da mesa grande (eram quatro estudantes estandardizados, parecidos no físico, no moral e na maneira de vestir) voltou-se para o homem do bolo e ainda mastigando disse:
- Estás fraco, rapaz. Precisas tomar um reconstituinte.
Riu-se da própria piada. Os outros estudantes riram com ele.
Amaro sentia-se mal. O suor escorria-lhe pelo rosto. Para fazer alguma coisa, apagou as velas restantes, em sopros discretos e repetidos. Desejava que os outros agora voltassem a atenção para os seus pratos, para os seus companheiros de mesa, para os seus pensamentos. Queria que o deixassem em paz. Não lhe bastava então a desgraça de fazer quarenta anos? Amaro sentia-se quase ofendido. Imaginava-se um cadáver em cima do qual toda aquela gente da pensão dançava e cantava. Queria reagir contra esse ressentimento, mas não podia. A vontade que tinha era de atirar o bolo no chão e sair da sala, sem dizer nada. Quando a gente faz quarenta anos e não passa dum bancário que acaba de perder o emprego; quando a gente sonhou ser um grande compositor, condutor duma grande orquestra sinfônica e acaba numa pensão modesta, sem glória nem esperança, diante dum bolo com quarenta velas - então o caso é para choro e luto e não para festa.
- Zina aproximou-se do hóspede:
- Seu Amaro - disse ela, maternal - parta o bolo e divida com os outros. Não seja esganado.
Riu com simpatia. Amaro arrancou as velas do bolo e pô-las de lado. Pegou duma faca e olhou para a dona da pensão.
- Eu queria que a senhora me ajudasse... Não tenho jeito para essas coisas...
- Zina socorreu-o, partindo o bolo em fatias iguais, que distribuiu entre os hóspedes.
Amaro olhou melancolicamente para o pedaço que lhe tocara. Observou quase divertido, que tinha sido dos menores.
- Minha Nossa Senhora! - exclamou D. Zina. - O senhor é o dono do bolo e ficou com a fatia menor!
- Não se incomode, D. Zina, não faz mal.
A vida fora para ele um grande bolo, de aspecto gostoso, cheio de velas coloridas. No fim lhe tocara a fatia menor. Mas por felicidade ele não era guloso. Contentava-se com pouco. Chegara à perfeição de desejar só uma coisa: a sua tranquilidade, a sua paz.
Passava pela vida como alguém que estivesse, constantemente a tirar o chapéu e a pedir desculpas aos outros. No fundo, desejava dizer a cada criatura que encontrava: ”O senhor me desculpe por existir. Não vê que não tenho culpa, não fui consultado. .. Como estou aqui, sou obrigado a roubar um pouquinho do ar que o senhor respira. Mas não se impressione, que já me vou embora”. Era por isso que sempre estava ”indo embora”. Quando no banco, esperava ansioso a hora de voltar para o quarto. Quando no refeitório da pensão, comia às pressas para ”ir embora”. Gostava de ficar a sós consigo mesmo, com as suas recordações, com seus sonhos que, apesar de sonhos, eram também tímidos. No entanto não queria mal aos outros homens. Tinha até uma grande ternura pelos seus semelhantes. Se alguém lhe fazia um favor, por pequeno que fosse, ele procurava retribuir em seguida de maneira larga, pródiga, desproporcional. Se fosse rico viveria dando presentes. Seria, porém, capaz de fugir para o fim do mundo para não ouvir os agradecimentos nem as atitudes e as expressões fisionômicas das pessoas que se querem mostrar agradecidas.
Dificilmente se encontrariam duas opiniões divergentes a respeito de Amaro. Todos o descreviam como um moço muito quieto, desses que a gente logo fica querendo bem e tendo confiança nele.
Apesar de não ter físico imponente nem conversa fácil ou brilhante, Amaro conquistava amigos. Muitos faziam dele um confidente. Conhecidos de poucas horas, abriamse para ele, confiavam-lhe segredos, como a um velho amigo íntimo.
Amaro escutava as confidências, encabulado, passava todo o tempo sem olhar para o interlocutor. No fim dizia
Alimentava vagas esperanças de que a irmã fizesse do sobrinho seu herdeiro universal. Ela tinha casa própria e algumas economias no banco.
Um dia estourou na vila um escândalo. A filha dum funcionário da prefeitura apareceu grávida. Era solteira e tinha quinze anos. Todos apontaram logo o pai: um sujeito triste e apagado que trabalhava como guarda-livros numa casa comercial.
Tia Manuela naquele dia ficou possessa. Queria que do céu caísse um raio na casa do funcionário da prefeitura, para que morressem ele, a filha pecadora e o fruto do pecado.
Amaro sofreu. A tia fez-lhe um sermão tremendo. Falou nas poucas-vergonhas do mundo e nas suas consequências horrorosas. Se Amarinho (que por aquele tempo beirava os treze anos) um dia praticasse atos imorais, havia de ficar com o corpo aleijado, a alma suja, e iria depois da morte penar no panelão do diabo.
Houve um fato que ficou para sempre como uma marca de fogo no espírito de Amaro. Foi num domingo. Ele ia pela manhã a caminho da casa da tia, depois da missa. Encontrou um amigo, o Ezequiel, guri de má fama, que fumava às escondidas e tinha vícios secretos.
- Oia, Amaro, vamos pra trás daqueles bambu que eu quero te conta uma coisa que eu fiz com a criadinha lá de casa...
Amaro se lembrou de tia Manuela e deitou a correr na direção da casa da velha, fugindo do amigo. Chegou arquejante, muito vermelho e trêmulo. A casa estava silenciosa. Entrou com o coração a bater descompassado. Encontrou a tia na sala de jantar, sentada na sua cadeira de balanço. Parecia dormir. Aproximou-se dela, bateu-lhe de leve na mão. Recuou. A velha estava gelada. Gritou pela criada. A preta apareceu, chamou a patroa em voz baixa, depois em voz alta; como ela não acordasse, sacudiu-a, primeiro de leve e depois com violência. A cabeça de D. Manuela tombou para um lado. Seus olhos estavam parados e pareciam de vidro. A negra desatou o choro. Foi buscar os vizinhos. Mais tarde veio um médico, que auscultou o coração da velha e declarou que ela estava morta.
Amaro jamais esqueceu o corpo estatelado em cima da cama, os olhos abertos, cinzentos, parados, fitos no teto. E até hoje, passados quase trinta anos, nas raras vezes em que procura mulher, ele não pode deixar de misturar com o ténue e diluído prazer que a ligação lhe dá, a lembrança da cara de tia Manuela, os seus olhos, a sua voz, as suas ameaças e o segredo que Ezequiel, menino viciado, lhe queria revelar atrás do bambual...
Amaro comeu a sua fatia, cruzou os talheres e limpou os lábios com a ponta do guardanapo.
Os outros conversavam, esquecidos dele. O conde (havia um conde austríaco na pensão) levantou-se, muito elegante, fez uma pequena curvatura que pretendia abranger todas as pessoas da sala e saiu, sereno, de cabeça erguida. Amaro admirou-lhe o ar distinto, a roupa cinzenta bem cortada, o jeito do lenço que emergia do bolso do coração, a gravata grená, o relógio de pulso, o cabelo um pouco ralo, mas sempre bem penteado e reluzente.
O conde era ”diferente” - admitia Amaro. Ninguém lhe conhecia o passado. Alguns duvidavam de que fosse um nobre de verdade. Mas era um sujeito limpo, bemeducado, lido, de palestra agradável. Jamais fazia perguntas indiscretas. Não pedia dinheiro emprestado (como aquele estudante que estava ali à cabeceira da mesa grande). Só havia um mistério... Como era que um homem que tinha um título, um nome sonoro - Oskar von Sonnenburg - roupas e maneiras de primeira ordem, morava na pensão, na modesta pensão de tia Zina?
O conde sumiu-se no corredor.
A criada aproximou-se de Amaro e serviu-lhe café. Alguém arrastou uma cadeira. Tio Couto, marido da dona da pensão, chegou da repartição. Entrou enxugando o suor, queixando-se da aglomeração nos bondes e pedindo água gelada.
- Descanse primeiro, homem - recomendou D. Zina. - Não beba água gelada assim suado, que faz mal.
Amaro subiu para o quarto. Fechou a porta, tirou o casaco, colocou-o com cuidado na guarda duma cadeira e deitou-se na cama.
Quarenta anos! Sim senhor...
Ficou olhando para a ponta dos dedos dos pés. Cruzou os braços sobre o peito e de repente se sentiu invadido por um sentimento de profunda tristeza. De onde estava, via a parede caiada, no meio da qual mal e mal se destacava uma máscara funerária de Beethoven modelada em gesso. Aquela era a sua paisagem exterior: um deserto branco com a máscara dum morto. Dava-lhe uma ideia de frieza, de desolação irremediável.
Havia cinco anos que morava naquela pensão, naquele mesmo quarto, vendo sempre aqueles mesmos móveis. No decorrer desse tempo pouca coisa comprara: uma estante, um espelho, uma cadeira de leitura, livros...
A solidão lhe fazia bem. Mas agora nos últimos tempos lhe vinha com frequência uma triste inquietude que o levava a desconfiar de que estava ficando velho.
Olhando com mais atenção para o pé, descobriu que na meia preta havia um buraco bem em cima do dedo grande. Lembrou-se da mãe, que costumava dizer-lhe:
- Tu parece que tem faca na ponta dos pés, menino.
Procurou esquecer a mãe. As recordações que tinha dela não eram agradáveis. Não podia mais imaginá-la calma e familiar, remendando meias na varanda, enquanto o marido lia o jornal com os óculos na ponta do nariz. Agora via-a remoçada, diferente, a cara pintada, estranha... Era incrível que sua mãe tivesse casado de novo!
Amaro então começou a ruminar velhas mágoas.
O pai morrera sem que ele lhe tivesse podido dizer adeus. A culpa fora dele, Amaro. Recebera cartas insistentes: o velho estava gravemente doente, os médicos andavam assustados... No entanto ele não ia vê-lo, achava difícil pedir licença no banco, comprar passagem, meter-se num trem, viajar um dia e uma noite, enfrentar a situação difícil e delicada: caras tristes, choros talvez, o pobre velho se finando na cama... Não foi. Tinha a secreta esperança de que aquilo não fosse nada... Efetivamente, duas semanas depois lhe vinha a notícia de que o pai melhorava. Uma noite - Amaro voltava dum concerto sinfônico no S. Pedro, com a cabeça cheia de Rimsky-Korsakov - encontrou um telegrama debaixo da porta. Sobressaltou-se. Abriu-o, comovido. Tinha cinco palavras: ”Seu pai faleceu enterro amanhã”. Foi uma bordoada. Passou a noite em claro. Decidiu embarcar no dia seguinte. Embarcou sem pedir licença. Foi num sábado. Podia voltar na terça: diria no banco que estivera doente...
Na viagem comeu poeira, mortificou-se de remorsos, pensou no pai todo o tempo. Chegou a casa com o coração batendo acelerado. O velho já estava enterrado. A mãe o recebeu com beijos e abraços, mas sem grandes choros e lamentações. Passaram o dia a recordar o passado. Amaro propôs levá-la para Porto Alegre: arranjaria um quarto para ela na pensão; ou alugariam uma casinha... A mãe sacudia a cabeça obstinadamente. Não queria deixar a sua casa, a sua terra, os vizinhos, os amigos...
- Mas, mamãe, que é que vai ser da senhora aqui sozinha? Eu não posso ficar, tenho um emprego...
Ela encolhia os ombros. Dali ninguém a tirava, nem à força.
Ele partiu no outro dia, desolado. Passaram-se meses, um ano. Silêncios demorados. Correspondência rara. Um dia veio aquela carta...
Amaro ficava perturbado quando pensava nisso... A mãe lhe dizia, com muitos rodeios e hesitações, que vivia só, sem companhia, triste, abandonada como gato em tapera, e que por isso ia casar com um senhor muito distinto, idoso e viúvo como eu...
Amaro sentiu algo que jamais havia experimentado: mistura de surpresa, incredulidade, vergonha e desalento. Não pôde evitar um pensamento: se tia Manuela soubesse...
Deixou passar uma semana, ao cabo da qual escreveu. Foi breve mas não ríspido. Disse que a mãe fazia bem e que ele não tinha nada a opor. Mandava lembranças aos conhecidos.
Passou a sentir-se mais só. Via cortada a última amarra sentimental que ainda o prendia ao passado, à sua velha casa, à sua vila natal.
Pelo rasgão da meia, Amaro via a pele do pé. Ficou olhando com fixidez para a nesga clara. Pensou vaga e rapidamente no bolo, no banco, numa frase dum minueto de Paderewsky, em dispensar o aluguel do piano por economia, no conde... Um torpor tomou-lhe aos poucos conta do corpo. A máscara de Beethoven foi se dissolvendo no branco da parede até que por fim a própria parede também desapareceu numa névoa. Dormiu.
Às quatro foi despertado por vozes. D. Zina dava ordens no andar térreo. Arrastavam móveis pelo corredor. Amaro teve a impressão de que muitas pessoas subiam a escada carregando um objeto pesado, cama ou guarda-roupa. Hóspede novo?
Então, ainda meio estremunhado, zonzo e de boca amarga, ele concluiu que podia ser Clarissa e a mãe. D. Zina lhe havia anunciado que elas chegariam aquela tarde.
Amaro ergueu-se, enfiou os chinelos, coçou a cabeça, tirou roupa branca da mala, pegou a saboneteira e a toalha e encaminhou-se para o quarto de banho. No corredor viu que estavam colocando duas camas no quarto dos fundos da casa. Tio Couto, que não tinha ido à repartição para o expediente da tarde, dava ordens.
- Cuidado a lâmpada, rapaz! Epa! Não enxerga? Devagar com o andor. Bote ali...
Amaro seguiu pelo corredor. Encontrou fechada a porta do quarto de banho. Empurrou-a. Veio lá de dentro uma voz:
- Tem gente!
Depois, o ruido de água escorrendo.
Amaro acercou-se da janela, pensativo. Era sempre assim. Quando ele chegava sempre ouvia a mesma frase: ”Tem gente”. Era seu destino sempre chegar atrasado. Também, nunca se apressava. Podia estar morrendo de fome, mas era incapaz de meter o cotovelo na multidão, abrir caminho à força, espezinhar os outros. Cedia sempre o seu lugar. Nos bondes, no banco, no cinema, à mesa, nas calçadas...
A porta do banheiro se abriu. Um rapaz (estudante barulhento, novato, nome difícil de guardar) saiu de tamancos, roupão em cima do corpo nu, cabeça molhada, nariz pingando.
Amaro entrou, despiu-se, abriu a torneira e meteu-se debaixo do chuveiro. O sol da tarde entrava pelo olho-de-boi que havia na parede e brincava nos fios dágua. Ele pensou em Clarissa. Como estaria ela agora? Vira-a menina, estudante da Escola Normal. .. Parava ali mesmo na pensão da tia. Era alegre, ia para a escola com uma boina verde (como ele se lembrava!) cantava, brincava com o gato. Depois, vira-a crescer, ficar moça... Dava-lhe uma certa angústia ver aquela rapariguita brincar no pátio debaixo dos pessegueiros floridos. Aquilo era música pura. Ele a contemplava da janela e ficava pensando em tudo quanto desejara e não pudera ser; em tudo quanto teria sido se não fosse o seu físico feio, a sua timidez e tia Manuela. Clarissa lhe aparecia como a corporificação dum ideal que ele procurara na arte mas que - ele via então existia mais vivo ainda na vida. Mas quando a gente é fraco, acha mais fácil dedilhar o piano e inventar músicas que sair para a rua e amar as raparigas em flor. Ele gostava de olhar para a menina que se fazia moça. Um dia deu-lhe um aquário com um peixinho dourado. E ficou muito impressionado quando se descobriu corando e gaguejando diante da menina. Seria possível que ele, um homem de trinta e sete anos, estava ficando apaixonado... Não! Absurdo. Mas a verdade era que ela não lhe saía do pensamento. E ficava cada dia mais bonita. E ele cada vez gostava mais de contemplá-la ...
Quando Clarissa ia para o interior, nas férias, ele sentia um vazio, uma solidão, uma ânsia... Até que um dia - terminado o curso - ela se fora definitivamente. Na sua ausência, com o tempo, lhe fora mais fácil quebrar aquele sortilégio.
Amaro ensaboava distraído o pescoço, a cabeça, os braços.
Clarissa chegaria naquele dia. E ele se admirava da sua tranquilidade, da sua quase indiferença. Só agora é Que compreendia, sentia o que realmente significava aquele fato: Clarissa ia chegar... estaria naquela casa dentro de pouquíssimas horas... Como estaria ela? Mais bonita? Ou uma provinciana gorducha? Talvez tivesse já um namorado, um noivo ... Quem sabe?
Quanto mais pensava no caso, mais se lhe fortalecia a convicção de que rever Clarissa era o mesmo que tornar a ouvir uma música muito suave que a gente amou no passado, quase esqueceu, mas que quer de novo ouvir e... amar?
Tolices. Tinha quarenta anos. Clarissa estaria quando muito com dezessete. Bobagens. Começou a assobiar um trecho do noturno de Borodine. Precisava mandar serzir as meias. E pensar num emprego. As economias acabavam. Borodine, que compositor! Tinha o disco: uma interpretação do famoso quarteto de cordas de Londres. Sim senhor: quarenta anos.
A água lhe escorria pelo corpo magro e sem aprumo.
Amaro baixou os olhos e lembrou-se de tia Manuela, que - diziam - tomava banho de camisolão para não ver a própria nudez.
Às cinco e meia tio Couto chegou de automóvel com D. Clemência e Clarissa.
- Zina esperou-os ao portão, comovida. Fazia anos que estava separada da irmã. Quando a viu descer do automóvel toda de preto, com um ar de sofrimento, desatou a chorar.
As irmãs se abraçaram longamente, trocaram beijos desajeitados, dos quais a maioria partiu da dona da pensão.
- Zina abraçou e beijou Clarissa; segurava-a pelos ombros, afastava-a de si, olhava-a com os olhos de admiração e depois tornava a puxá-la contra o peito. Chorava, ria, falava, tudo ao mesmo tempo.
- Como está moça! Como está bonita! Vamos, Couto!
- Gritou para dentro: - Camila! Venha ajudar a levar as malas. Mas como se foram de viagem?
Couto pegou numa das malas e saiu atrás das mulheres, que já atravessavam o jardim.
De tão comovida, Clarissa não podia falar. Revia a velha pensão, da qual tinha recordações agradáveis. Lembrava-se daquela fachada simples, com muitas janelas, compoteiras nas platibandas, entradinha do lado. Os canteiros estavam como antes, talvez agora um pouco maltratados. Mas tudo com um ar tão diferente, como se não fossem as mesmas árvores, as mesmas pedras... Que coisa engraçada é o tempo!
- E o Vasco? - perguntou D. Zina, parando e lembrando-se de repente. - Não vinha também?
- Clemência explicou:
- Veio. Ficou na estação retirando as malas grandes.
- Não vá o menino se perder...
- Menino? - exclamou tio Couto. - Um marmanjo mais alto e mais forte que eu...
Entraram.
Clarissa notou logo as mudanças na sala de refeições. A disposição das mesas. A cor dos estores. O congóleo de losangos coloridos era o mesmo. Os quadros. .. não se lembrava bem. A pintura das paredes também lhe parecia nova.
- Arrumei o quarto de vocês lá em cima, no fundo. Subiram. No corredor Clarissa perguntou:
- O Micefufe ainda está vivo? Era o gato ruivo.
- O Micefufe? Aonde foi já chegou ...
- Mataram ele?
- Um automóvel, na rua. Faz tempo...
- E o papagaio?
com os olhos ainda molhados de lágrimas, D. Zina soltou uma risada.
- O Mandarim? Pois o Micefufe comeu ele, menina! A gente se descuidou, o pobre do bicho andava caminhando pela cozinha e o gato abocanhou o coitadinho.
Para Clarissa, a história no primeiro momento ficou confusa: o auto matou o gato e o gato depois de morto comeu o papagaio.
- E quem morreu também foi o Major Pombo. Tu se lembra do major, Clarissa?
- Me lembro. Coitado! Do que foi que morreu?
- Angina do peito.
Chegaram ao quarto. Era pequeno: duas camas, um guarda-roupa com espelho, um lavatório de ferro e uma mesinha de cabeceira.
Tio Couto pousou as malas no chão. D. Clemência tirou o chapéu, passou a mão pela cabeça e sentou-se na cama. Clarissa foi olhar o pátio, da janela.
- Olha, Clemência - disse a dona da pensão. - Vocês ficam aqui enquanto eu não tenho quarto melhor. Estou com a casa cheia.
- Está muito bom, Zina. Pra que melhor? Tão bom... Tio Couto tornou a descer. Clarissa olhava para o pátio, no qual notava grandes mudanças. Havia uma casa nova de telhado vermelho, no fundo, dando para a outra rua. Um galinheiro também novo, com tela de arame. Mas lá estava ainda o pessegueiro, o seu velho amigo dos tempos de colégio. Ficou comovida.
Silêncio no quarto. D. Clemência sentiu que a irmã queria falar no falecido. Suspirou, olhou para o chão. Tinha saudades do marido. E agora que ia arrefecendo o alvoroço da chegada, começava a sentir uma grande falta dele.
- O pobre do João de Deus... - murmurou D. Zina. E desatou o choro. Clarissa via agora a paisagem através de lágrimas.
Durante muito tempo a presença invisível mas poderosa de João de Deus se fez sentir naquele quarto. D. Clemência contou o crime com detalhes. E de súbito, enxugando os olhos com a ponta do avental, D. Zina ergueu-se e disse:
- Fiquem à vontade. Você quer banho morno, não é, Clemência?
A irmã fez que sim. Levantou-se, abriu uma das malas e começou a procurar roupas.
Quando D. Zina saiu para mandar encher o banheiro, mãe e filha ficaram paradas, interrogando-se uma a outra com os olhos. Depois, sempre em silêncio abraçaram-se longamente.
Quando percebeu que tinha gasto um tempo maior que o habitual para dar o nó na gravata; quando se descobriu a dispensar um cuidado especial ao penteado - Amaro sentiu-se um tanto ridículo.
Era um bobo. Fazia-se galã aos quarenta. E galã duma menina de dezessete. Não se enxergava? Não via no espelho a sua cara sem graça, os primeiros pés-de-galinha nos cantos dos olhos? E não se lembrava também de que estava sem emprego?
Enfiou o casaco. Ficou por um instante indeciso. Por que aquele medo de sair? Ou antes: por que aquela insistência em sair? Ouvira a voz dela no corredor: não tinha mudado nada, sempre fresca, musical, macia...
Sentou-se. O encontro seria difícil. Ele tinha de portarse como um mais velho, como um homem desligado do mundo. Não devia portar-se como um colegial atrapalhado. E depois, a questão tinha outro aspecto. Ele podia ter uma decepção...
Abriu um livro, começou a ler mas não entendeu nada do que lia. Tornou a levantar-se e saiu. O corredor estava deserto. Desceu a escada.
Antes de chegar ao penúltimo degrau sentiu um choque. Clarissa estava na sua frente. Naquele instante deixava a sala, ia subir.
Estacou.
- Oh! Como vai o senhor, seu Amaro?
Estendeu a mão, sorrindo. Perturbado ele apertou a mão da moça.
- Bem, obrigado, e a senhora?
- Bem, obrigada. Silêncio curto.
- E a senhora sua mãe?
- Também vai indo bem, obrigada. Outro silêncio.
- Então, vão morar aqui agora? Era uma pergunta tola - achou ele.
- Pois é, quero ver se consigo a minha transferência para cá...
De repente Amaro ficou vermelho. Tinha sido um bruto. Lembrava-se de repente da morte do pai de Clarissa. Nem lhe dera os pêsames. Que sombra! Que animal!
Gaguejou:
- D. Zina... me contou. Não imagina como eu senti. .. Meus .’.. meus pêsames.
Queria dizer o quanto sentia, como achara bárbaro aquele crime, como ficara sensibilizado ao saber que lhe tinham matado o pai... No entanto só lhe saíram aquelas duas palavras estúpidas, convencionais: ”Meus pêsames”.
O rosto de Clarissa entristeceu. Ele a achou linda. Tinha agora uma beleza mais definida, mais madura. E como lhe ficava bem o luto!
- bom... Não a interrompo...
- Não senhor, eu ia ver a mamãe...
Ele desceu dois degraus. Ela fez uma inclinação de cabeça e subiu.
Amaro tirou o lenço do bolso e enxugou o suor que lhe escorria pelo rosto.
Da porta da estação Vasco chamou um automóvel.
Estava excitado. Via passarem bondes carregados de passageiros, carroças, automóveis. O sol alaranjado e macio da tardinha coruscava nas vidraças, no vidro fosco dos combustores, nas tabuletas de metal das casas de negócio, nas caras suarentas dos homens que passavam.
Uma cidade diferente!
Tudo era novo, imprevisto, curioso. O automóvel se aproximou: o chofer abriu a porta. Vasco gritou o endereço e entrou. O carro se pôs em movimento.
Vasco sentia um vento fresco bater-lhe no rosto. Olhava ora para a direita, ora para a esquerda. Via passarem vitrinas, portas, letreiros, pessoas. Tinha a impressão de que a gente daquela cidade era estrangeira, falava uma língua diferente. Seus pensamentos eram um tumulto.
O auto corria. Entrou por uma rua mais movimentada.
Parou a uma esquina: o guarda estava de braços estendidos.
A multidão atravessava a rua. Um bonde amarelo passou, barulhento.
O auto retomou a marcha, e passou por baixo do viaduto. Sem voltar a cabeça, o chofer gritou para o passageiro:
- Hoje um cara se atirou lá de cima!
Vasco inclinou-se para a frente. Não tinha ouvido bem. Pediu repetição. O outro repetiu.
- Como? - estranhou. - Pra quê?
- Ué! Decerto queria morrer.
Vasco olhou o viaduto pela janelinha do fundo do carro. Via em imaginação o homem caído, de cabeça esfacelada. A mancha de sangue devia estar ainda lá...
O chofer prosseguiu:
- Diz que deixou um bilhete dizendo que a mulher enfeitava ele. O ”Correio do Povo” dá tudo.
Vasco atirou-se para trás. Era o romance. Era a cidade grande com seus dramas. A vida! Sentiu-se feliz. E alarmado por sentir-se assim ao ouvir a notícia dum suicídio.
O auto parou.
- Pronto, moço.
Vasco desceu, pagou e correu para dentro. Encontrou uma mulher gorda na sala de refeições, ajudando a arrumar as mesas para o jantar.
- Garanto que é a tia Zina... A mulher se voltou:
- Vasco! Mas este menino é a cara da Zuzu! Abraçaram-se.
- Olha, o teu quarto vai ser junto com o Veiga, um estudante. Não tenho outro sozinho. Tem paciência, sim? Mas você está um homem!
Subiram juntos.
- Nunca tinha vindo a Porto Alegre?
- Nunca. Como vai o pessoal?
- Vai bem. E tu, não queres um banho? Olha, é ali. Mas estás um homenzarrão.
Mostrou-lhe o quarto. Vasco entrou. Viu livros numa estante.
- Como se chama mesmo o rapaz?
- Veiga. É meio esquisito mas acho que vocês vão se entender. Bem. Tira esse casaco. Já sabe onde é o banheiro?
Saiu. Vasco deitou-se, ficou um instante imóvel, olhando para o teto. Depois, pulou da cama abriu a maleta, tirou a gilete, e ensaboou a cara com o sabão do companheiro desconhecido. (Era de coco, ordinário.) Foi à janela, olhou a paisagem. Voltou para a frente do espelho e barbeou-se com um certo nervosismo. Estava tão excitado, esfregava a gilete com tanta fúria, que deu um talho no canto direito da boca. O sangue começou a escorrer. Ele apanhou as roupas e precipitou-se para o quarto de banho. Despiu-se e meteu-se debaixo do chuveiro. Ensaboou o corpo com fúria (o sabão de coco do companheiro dava uma espuma abundante, branca, cheia de bolhas). Saiu do banho, cantando.
Dez minutos depois, vestido e penteado, procurou o quarto da prima. Bateu à porta. Abriram. Entrou.
- Ó Vasco!
Clarissa saudou-o com alegria, quase com surpresa, como se fizesse muitos anos que não o via.
As duas irmãs discutiam. Dizia D. Clemência:
- Não, Zina, não fica direito... A outra retrucava:
- Já disse que não precisa...
- Não. Eu quero pagar. Senão, não fico. Havia de ter graça.
- Mas que mulher teimosa! Vocês não são hóspedes, são da família... Já disse que não precisam pagar.
- Mas assim a gente fica constrangida, Zina. Não digo que tu cobres o mesmo que pros outros. Mas de graça é que não fica direito.
A outra encolheu os ombros, resignada.
- Não sabia que tinhas ficado milionária... Ergueu-se. Mudou de tom:
- Mas esse menino é a cara da Zuzu. A coitadinha. Tomou banho? Está bem. Vamos jantar. Vocês devem estar com uma fome danada.
Saiu do quarto.
- Venha, Vasco!
Vasco seguiu-a. No corredor encontraram Amaro.
- Seu Amaro, venha cá. Quero lhe apresentar um moço, que vem a ser meu... meu... que é que você é meu, Vasco? Ah! Esse é o seu Amaro, o hóspede mais antigo da pensão.
Os dois homens apertaram-se as mãos.
- Veio com a Clarissa? - perguntou Amaro.
- Vim.
- Ah...
Era ridículo - achava Amaro - mas ele já sentia ciúmes.
Desceram para o refeitório.
Durante todo o jantar os rapazes da mesa grande procuraram namorar Clarissa. Clarissa de quando em quando olhava furtivamente para Vasco, que estava na sua frente. Amaro procurava não olhar para Clarissa; mas não conseguia governar os olhos: lançava para ela olhares medrosos, rápidos, e corava toda a vez que fazia isso. Vasco namorava o perfil do conde contra o céu claro da noitinha. (Oskar tinha a sua mesa perto da janela.)
O perfume do jasmineiro do jardim invadia a sala. Entrava com todos os ruídos da rua, misturava-se no ar com o zunzum das conversas, com o tinir de pratos e talheres, com o ranger de cadeiras.
Clarissa olhou disfarçadamente para o primo. Ele está agitado - pensou - que será? A criada botou nele uns olhos deste tamanho. Por que é que ”Gato-do-Mato”está a todo o instante virando a cabeça para aquele lado?
Não devo dar demonstração - refletia Amaro - não fica bem. É preciso fingir até o último momento. Quarenta anos. Ela, dezesseis... dezessete quando muito. Mas está bonita, mais mulher, mais. .. mais não sei o quê. O luto lhe fica bem. Mas não devo olhar. Podem ver...
Começou a brincar com uma bolota de miolo de pão. Sorriu para o conde. O conde não percebeu: estava olhando para aquela estrela que parecia despedir raios verdes, dourados e vermelhos. Amaro assobiou baixinho. E ficou muito perturbado, pois assobiara por pura atrapalhação. Despejou água da quartinha no copo, só para fazer alguma coisa.
Os rapazes estandardizados cochicharam. ”É muito boa”- disse um deles, olhando para Clarissa -”estou dando em cima.” Os outros riram. Depois entraram a falar em outras coisas. No meio da balbúrdia geral só se ouviram palavras e frases cortadas num entrecruzamento colorido. Chevrolet... hein? ... ao cinema... mais carne!... no Imperial ... uma ova... V8... espia só...
Vasco continuava a olhar para o conde. Era uma fascinação. Um perfil de linhas tão puras... Contrastando com todas as fisionomias ali na sala... A criada mulata. Os rapazes da mesa grande: morenos, narizes grosseiros, cabelos duros de bugre. Aquele senhor lá no canto, meio mulatão, beiços arroxeados, cabelos crespos... O outro homem que estava palitando os dentes atrás de Amaro mostrava o sangue caboclo na cara bronzeada, nos olhos de chinês, nos zigomas saltados... Ao passo que o conde era puro sangue... E, assim contra a noite, o seu perfil parecia pura fantasia dum desenhista estilizador... Vasco não se cansava de olhar. Perguntou:
- Tia Zina, donde foi que a senhora desencavou esse conde?
A mulher encolheu os ombros, engoliu o que tinha na boca.
- Apareceu um dia, disse que queria um quarto. Não perguntou o preço, só fazia questão é que tivesse banho fácil...
- Como é o nome dele?
- Oscar. Ele diz Oscar. O sobrenome não me lembro. Uma coisa parecida com Luxemburgo, Hidemburgo, sei lá!
- Alemão?
- Austríaco.
- Zina acentuou o último a. Tio Couto levantou os olhos do prato por um instante e, com a boca ainda cheia, informou:
- Professor de línguas. Muito preparado. Uma palestra de mão-cheia. Fala uns quantos idiomas, dizem que é conde de verdade. Não sei, não averiguei. Me passa o bife, Zina.
Vasco cruzou os talheres, empurrou o prato. Mudou de lugar, sentou-se ao lado de Clarissa, para ficar de frente para o conde. Tirou do bolso uma caderneta e um lápis e começou a desenhar.
- Veja, Clarissa, veja... - foi dizendo.- Que tranquilidade naquele perfil, que distinção, que ... que ... O diabo é que ele não pára quieto. . . Sabes como se chama aquilo? Raça pura. Nós somos mestiços, menina.
Clarissa sorria e olhava para o papel. Ali estava a testa larga do Conde Oskar, o nariz reto e afilado.
- A boca é que está difícil. .. Tem qualquer mistério
- acrescentou Vasco. - Lábios finos, apertados... Será que o homem já desconfiou que eu estou desenhando a cara dele? Acho que não. Pronto. Parece que a boca está, não?
Clarissa contemplava com amor a grande mão morena de Vasco. Lembrou-se dos tempos em que ele era menino e riscava figuras - trens, homens, montanhas, casas nos muros caiados.
- Agora vamos pintar os cabelos ruivos do conde. Veja este novo processo, Clarissa.
Molhou o lápis no molho de tomate da carne e pintou os cabelos do conde.
- Que ideia! - exclamou Clarissa, sorrindo. Tia Zina cutucou o rapaz.
- Não escreva em cima da bóia que faz mal. Dá congestão cerebral...
Amaro via Vasco junto de Clarissa. E, mau grado seu, sentia ciúmes. Procurava ao mesmo tempo achar aquilo tudo muito natural. Eram moços. Primos, criados juntos. Tinham de acabar marido e mulher. Estava certíssimo. Mas...
- Agora precisamos um fundo para esta cabeça... decidiu Vasco, examinando o desenho. - Se a tia Zina tivesse feito um molho azul eu pintava o céu. bom. Mas podemos fazer o sol...
Espetou um pedaço de miolo de pão na ponta do lápis, passou-o na gema do ovo e... Pronto! Um fundo luminoso, dum amarelão violento. E, contra esse fundo, o perfil repousado do conde.
- Zina olhou e pasmou.
- Mas é a cara do conde!
- Fale baixo, tia Zina - pediu Vasco.
O conde voltou a cabeça para a dona da pensão e sorriu. D. Zina se ergueu com o papel na mão.
- Olhe só, seu Oscar.
Mostrou. O conde assestou o monóculo. Sorriu.
- Esplêndido.
Tinha um sotaque agradável. Seus dentes eram graúdos, parelhos e brancos.
- Só falta falar - elogiava D. Zina.
- Quem foi o artista?
- Que artista?
- Quem foi que... que desenhou?
- Ah! - D. Zina mostrou Vasco com orgulho. - Foi aquele moço. É meu sobrinho, chegou hoje com a minha mana. Vem cá, Vasco!
Vasco se ergueu. O conde também.
- Lhe apresento ... - começou a dona da casa. Ficou atrapalhada. Mas não foi preciso dizermais
nada. Vasco apertou com força a mão fina, comprida e pálida do conde.
- Meus parabéns, jovem ... - A voz de Oskar era macia e clara. - Francamente: nunca fui pintado com tanta fidelidade.
- E com molho de tomate e gema de ovo... Viu? O conde aproximou o desenho do nariz. Riu.
- Esplêndido. Mas faça o favor, sente-se um pouco.
Vasco sentou-se. Sentiu que vinha do outro um perfume muito fino e suave. O conde estava de branco e tinha o rosto escanhoado. Seus gestos eram fáceis e naturais. Positivamente: Oskar era uma nota berrante naquele ambiente . .. Qual seria o seu passado?
A criada trouxe a sobremesa. Quando veio o café, Vasco já fazia confidências. E se surpreendia com isso. Nunca sentira coragem de abrir-se com ninguém. De repente surgia um estranho, um estrangeiro, um desconhecido - e já estava ele a falar-lhe de suas mágoas, de seus sonhos, de suas angústias, como se se tratasse do mais velho e íntimo dos amigos. Sim, não havia dúvida. O conde tinha algo de fascinante que dispunha a gente a fazer-lhe confidências. Era como se ele fosse de um outro mundo e portanto não estivesse sujeito às paixões da terra.
Vasco falou, falou, falou... Contou de Jacarecanga, de seus caudilhos, de sua vida baça, de sua lama, de suas misérias. Falou de seu desejo de fuga, de libertação, de vida nova. O conde escutava com simpatia, acariciando o bigodinho sedoso.
A sala se esvaziava aos poucos. Por fim só ficou, lá no canto, um hóspede melancólico que bebia tranquilo a sua laranjada, soltando pequenos arrotos que abafava discretamente com o guardanapo. O vento trazia ainda para dentro de casa o perfume dos jasmins. A noite se fizera mais funda.
E de repente Vasco se calou, arrependido de ter ido tão longe. No fim de contas nada do que ele dissera podia interessar o conde. Tinha sido o mesmo que falar a uma pedra. Odiou-se por ter soltado a língua. E teve vontade de mostrar-se agressivo. Começou a olhar com insolência para o outro, para a sua gravata de seda grená, para o seu relógio de pulso, para as suas unhas polidas.
Mas o conde o desarmou.
- Meu jovem amigo - disse - eu gosto de você.
Naquela noite saíram juntos, rumo do centro da cidade. Vasco caiu deslumbrado no meio dos anúncios luminosos e da agitação. Sentiu uma tontura ao caminhar por entre a multidão que formigava na rua... Positivamente: era um matuto. Essa ideia lhe deu uma sensação de inferioridade. Lembrou-se da sua Jacarecanga de noites solitárias, galos cantando, cachorros latindo, a luz amarelenta das lâmpadas da rua, uma aqui... outra lá longe; de raro em raro um homem passando, chapéu de abas largas, bombachas, botas, um revólver enorme na cintura, cigarrão de palha na boca, fumegando como chaminé... Agora ele via gente mais bem vestida, de ar mais amável e civilizado, casas altas, ruas limpas e bem iluminadas, automóveis, bondes...
O conde caminhava a seu lado, sereno. De quando em quando ajustava o monóculo.
Chegaram a uma praça e Vasco viu a lua, muito longe e abandonada, no céu. Teve a impressão de que encontrava uma velha conhecida. Sentiu ímpetos de acenar para ela.
- Sabe, meu jovem? - começou o conde. -Você me lembra um amigo que tive na Áustria. ..
- Eu?
O conde sacudiu a cabeça.
- Era um rapaz forte, entusiástico. .. como se diz? ..: vívido, compreende? Há qualquer coisa na sua fisionomia que me lembra o meu amigo... É estranho. .. logo que o vi, notei isso. Chamava-se Hubert...
- Por onde anda ele?
- Oh! Eu quisera saber... O corpo de Hubert está enterrado naquela aldeia do Tiról. .. Mas aquele espírito vivo aquela... aquele talento para a poesia, para a música... por onde andam? É o que eu me pergunto. ..
Pausa curta. Caminhavam por uma aléia de plátanos. Havia sombras azuladas no chão cor de ocre.
- Faz muito que o seu amigo morreu?
- Na guera.
- E o se... e você também esteve na guerra?
O conde ajeitou o monóculo, puxou de leve a aba do chapéu de feltro claro.
- Classe1895... Promovido a tenente em 1917... Oh! Mas isso tudo é uma lenda... Veja, estamos aqui, depois de vinte anos, quase tudo. .. esquecido. Você já reparou, meu jovem amigo, que o passado e a lenda são feitos... como se diz?... do mesmo estofo fantástico? bom. Eu lhe peço, non vamos falar de guera. ..
Entraram numa zona menos movimentada da rua. Passaram pela frente dum templo protestante. A hera recobrialhe toda a fachada. Vinha lá de dentro o som de vozes que cantavam um hino.
- Religioso, conde? Oskar encolheu os ombros.
- Non...
Silêncio. Vasco olhou para o céu, para a lua, para as estrelas e depois, como que pensando em voz alta, perguntou:
- Eu queria só saber se você acredita em Deus... O conde sorriu.
- Oh! Devemos voltar, pois vamos acabar entrando nos fornos da usina... - Tirou o lenço e limpou com ele os ombros e as mangas do casaco. - Esta fuligem horenda. .. Mas o meu jovem amigo falava em Deus?
Voltaram rumo do centro da cidade. Deram alguns passos em silêncio. Passaram outra vez pela igreja. Agora estava-se no sermão. Uma voz sonora enchia o templo, escapava-se pela porta, espalhava-se no ar da noite. Eles ouviram uma frase: ”...no conhecimento e no amor de Deus”.
- Deus... - murmurou o conde - Deus... - Tornou a tirar o lenço do bolso, esfregou-o nas mãos. - Tenho horor do pó, entraremos... num bar... numa casa de chá, preciso de água... Mas, Deus... Sim, Deus egziste ou non egziste...
Besteira - pensou Vasco - isso todo mundo sabe.
- Eu non me inquieto com referência a Deus... continuou o conde.
- Então não acredita...?
- Olhe. Ponho a queston no seguinte pé. Deus egziste ou non egziste. Se non egziste, nada perdemos... nem ganhamos ... pouco importa o que fazemos de bom ou de mal na terá... Se por outro lado Deus egziste... deve ser um gentleman, e como gentleman saberá perdoar-nos os pecados, tanto os pequenos como os grandes.
Vasco arriscou uma objeção, mas sem entusiasmo:
- Por que é que você diz que ele deve ser um gentleman?
- Porque non tem necessidades humanas, compreende? Está livre de dores de cabeça, de contas do fim do mês... de preocupações quanto ao futuro, de complicações amorosas... Terá tempo e tranquilidade para cultivar o cavalheirismo. Poderá dominar suas iritações, se as tiver. Logo, está em condições de ser um gentleman. E que outra cosa é ser gentleman sinon dominar o animal iracional que há em nós?
Vasco estava encantado, não com as teorias do conde,
que lhe cheiravam a blague, mas com a sua maneira clara de exprimir ideias. Só se notava que era estrangeiro pela pronúncia do ao, do r forte e pela tendência que tinha de abrir quase todas as vogais.
- Conde, há quanto tempo você está no Brasil?
- Cinco anos.
- Pois eu me envergonho. Estou há vinte e dois e não consegui ainda falar certo e claro como você.
Oskar sacudiu os ombros, sorriu com um canto da boca.
- Acha? Pois em compensaçon, meu jovem amigo, ponha na minha frente um problema de álgebra elementar e non saberei resolvê-lo.
Vasco suspirou.
- Nem eu.
- Mas suponho que a nossa incapacidade para a Matemática non vá nos estragar a noite. Vamos entrar naquela casa?
- Ótimo.
Entraram numa casa de chá que tinha um nome alemão.
Quase todas as mesas estavam tomadas. O conde entrou na frente. Deixou o chapéu num cabide à entrada e saiu a caminhar por entre as mesas, rumo do fundo da sala. Vasco seguiu-o, desajeitadão. Não havia luzes fortes lá dentro: apenas uma penumbra carmesim. Ar morno, cheirando a chá, a perfumes misturados, a carne de mulher, a fumaça de cigarros caros. Em cima de cada mesa havia uma lâmpada com quebra-luz cor-de-rosa. O chão atapetado abafava o ruído dos passos. Quase todos os homens e mulheres que ali se achavam pareciam estrangeiros: alemães, austríacos, ingleses. Louros na maioria. Falavam em voz baixa. Tudo aquilo era novo e perturbador para Vasco. Ele seguia o conde com a estranha e aflitiva sensação de ser um brutamontes que ali entrara com os sapatos embarrados; ia sujar tudo, virar as mesas, quebrar as lâmpadas, manchar os vestidos claros das mulheres, as calças de linho branco dos homens, o tapete...
De repente o conde estacou. Uma mulher que estava sentada na frente dum Martini puxava-lhe a manga do casaco.
- Oh, Oskar! Wo hast du gesteckt? Geflohen? Oskar inclinou-se e beijou-lhe a mão.
- Oh, Inge, nichts von dem. Wie gehfs dir? A mulher sorria, de rosto erguido para o conde.
- Setz dich.
Oskar mostrou Vasco.
- Traga também o seu amigo - convidou ela com um sorriso.
Vasco sentiu um formigamento quente no corpo. O conde fez-lhe um sinal.
- Permita que lhe apresente duas boas amiguinhas... Vasco deu dois passos à frente. Estendeu a munheca
e prendeu nela a mão branca, macia e fresca, de unhas rosadas, pontudas e lustrosas.
- Inge Merkel - disse a moça. Depois apontou para a companheira que estava recostada à parede, com ar alheado, fumando tranquilamente um cigarro. - Essa é Anneliese.
Vasco estendeu a mão. Mas a outra limitou-se a cumprimentá-lo com a cabeça. O rapaz ficou um instante de mão estendida, no ar... Encabulou.
Sou um bruto. Sou um matuto. Sou um burro. Odiou-se. Quando iria ter modos de gente? Mas não. A brutinha tinha sido ela. Teve vontade de virar a mesa, fazer qualquer violência.
- Sente-se, jovem - disse o conde.
Sentaram-se ambos. Vasco tirou o lenço do bolso e enxugou o suor do rosto. Invejou o conde, que não transpirava. Quanto às mulheres, pareciam de mármore, de gelo, de gesso, de qualquer coisa, menos da matéria de que ele era feito.
- Ober! - gritou o austríaco. O garçon aproximou-se.
- Que é que toma, Vasco? - perguntou Oskar.
- Qualquer coisa.
- Um Martini?
Vasco não sabia o que era Martini.
- Topo,
Topo! Não era linguagem de gente fina. Mas ele não era gente fina. Pronunciou a palavra com prazer. Sentia necessidade de se afirmar de qualquer forma. Não podia ser pelas boas maneiras, pela boa aparência, pela palestra agradável? Seria pela brutalidade, pela selvageria. Não era nem queria ser aristocrata. Seus antepassados por parte de mãe eram tropeiros, gente do campo; se quisessem ir mais fundo em sua árvore genealógica, na certa terminariam em alguma tribo de charruas ... E por parte do pai? Talvez engraxates e vagabundos napolitanos, bandidos da Calábria... com a cabeça quase recostada no ombro do conde, Inge lhe falava num cicio:
- Warum sagst du mir nicht, wo du jetzt wohnst? Ele sorria, vago.
- Wozu? Es ist gar só schrecklich zu ”whnen”. Vasco olhou para a outra moça. O que viu primeiro por trás da fumaça azulada do cigarro foram dois olhos dum azul líquido e fresco. Já vira olhos assim numa boneca de louça. Mas não... Aqueles olhos ali não estavam num rosto de boneca. Brilhavam numa cara móvel, expressiva, cheia de vida. A luz rosada da lâmpada batia em cheio no rosto de Anneliese. Percebendo o olhar insistente de Vasco ela sorriu, amassando o cigarro contra o fundo do cinzeiro. O sorriso lhe franziu o nariz e fez os zigomas saltarem. E quando ela olhou para um lado o seu perfil atrevido e esportivo lembrou a Vasco essas figuras que se vêem nos radiadores de automóvel - corpos sugerindo um dardo que se projeta, dando uma impressão de mocidade, de arremesso.
O garçon trouxe os coquetéis. A orquestra começou a tocar. A velhota do piano cantou com voz rouca de contralto as primeiras notas duma canção russa.
- Fala alemon? - perguntou Anneliese a Vasco.
O rapaz sacudiu a cabeça negativamente. Ela ofereceu-lhe um cigarro. Ele aceitou. O conde, ágil, apresentou-lhes o isqueiro aceso.
- Anneliese não fala português - explicou Inge, Veio, há pouco mais dum mês, da Alemanha.
Seria o coquetel? Ou era a voz dolorida e funda da mulher que cantava? Vasco começou a sentir-se melhor. Aproximou-se de Anneliese. Teve vontade de pintar aquela cara: um retrato à maneira dos mestres holandeses (que ele só conhecia de reproduções em revistas). Ficaria lindo, porque a alemazinha era linda. Linda? A palavra não exprimia bem o que ela era. Não se tratava duma beleza clássica, bem medidinha... Era uma boniteza esportiva, apetitosa, provocante... Ou seria apenas o coquetel?
A velhota do piano cantou mais alto: o seu lamento atingiu quase as proporções dum grito de dor e desespero. Inge murmurava coisas ao ouvido do conde.
- Outro coquetel? - perguntou Oskar.
- Topo.
Veio mais um Martini. Vasco começou a bebericá-lo.
A russa terminou a canção num gemido. Palmas.
Vasco sentiu uns olhos azuis postos nele, com certo interesse. Sorriu. Anneliese sorriu também. Inge e Oskar conversavam em murmúrios. Ela, muito caída para ele. Ele, sempre teso, alinhado, vago.
Anneliese enfiou a boina e pôs-se de pé de repente.
- Gut - disse para a companheira. - Liebschaftet nur -weiter; ich will diesen Wilden mit mir nehmen. Auf wiedersehen!
Puxou Vasco pela gola do casaco, decidida. O rapaz seguiu-a, fascinado.
Viu que ela era esbelta e pernilonga como uma garça. Anneliese saiu da casa de chá, entrou numa conversível verde. Sentou-se ao volante, bateu no banco ao seu lado e disse para Vasco:
- Vem.
Ele entrou e bateu a porta. O carro se pôs em movimento.
Fizeram várias voltas através de ruas meio desertas. Seguiram depois por uma longa avenida de palmeiras. O carro corria, macio. Vasco sentia no rosto o vento fresco da noite. Uma leve tontura. Atirou a cabeça para trás. Olhou de viés para Anneliese. As mãos brancas no volante. Os seios empinados, sim, como uma figura de radiador ou uma bela gárgula arremessando-se para a frente, contra o vento e a distância. .. Os cabelos de Anneliese eram louros e esvoaçavam. Ela sorria e olhava de quando em quando para Vasco. As palmeiras passavam. Casas. Jardins. Janelas iluminadas. Janelas fechadas. Bondes.
Vasco olhou para as estrelas. Olá, velhas companheiras! Vocês devem estar admiradas. Parece incrível! E eu ainda não sei bem se isto é sonho ou realidade. Ainda ontem vi vocês no céu de Jacarecanga. Agora...
O auto entrou na faixa de cimento que levava para a Tristeza. Apareceu o rio. Vasco viu as luzes da cidade, os seus reflexos móveis, nágua, o casario amontoado, a poeira vagamente doirada que se erguia das ruas para o céu.
Sentiu cheiro de mato e lembrou-se daquela noite (mas tinha sido ontem, simplesmente ontem!) na plataforma do trem.
O auto rodava. Anneliese cantava. O ruído macio e chiante dos pneumáticos no cimento. As montanhas longe. As ilhas escurejando sobre a chapa cinzenta do rio.
Entraram na Tristeza. Vilas e bangalôs. Cartazes. Combustores distanciados de luz mortiça. Um cachorro veio até o automóvel, latindo, acompanhou-o por um instante e depois ficou para trás.
Tomaram o rumo de Ipanema. Vasco fechou os olhos. Era melhor assim. Não podiam falar. Não se entenderiam. E mesmo as palavras não teriam nenhum sentido.
De repente o auto parou, e ele abriu os olhos. Estavam em Ipanema. Viu o rio largo, sereno, espraiado ao luar. Silêncio. Brilhavam pontos luminosos na margem oposta. Montanhas escurejavam graves contra o céu dum azul violáceo. Piscava a luz alaranjada dos faroletes das bóias. O vento que vinha do estuário envolvia-os numa carícia fresca. O marulho da água era mole e acalentador.
Vasco olhou para Anneliese. E como não tivesse outra coisa a fazer, apontou para o céu e, como se falasse a uma criança, murmurou:
- Lua.
- Lua - repetiu ela, sorrindo.
Outra vez o silêncio. Vasco teve a impressão de que ambos estavam sós no vasto mundo, na vasta noite. Toda a humanidade tinha morrido. E eles eram os únicos senhores dos outros dias que haviam de amanhecer, das montanhas, dos mares e das estrelas. Sim, tinham escapado à catástrofe que destruíra todas as outras criaturas. Estavam ali olhando o rio em silêncio. Depois iriam amar sobre a areia e uma nova humanidade nasceria desse amor.
Anneliese olhava atentamente para Vasco, com um ar divertido, como uma turista inglesa olharia para um hotentote, para um bicho do zoológico, para uma planta rara do Amazonas.
Na sua estonteada felicidade, Vasco só atinou com fazer um gesto: acariciou os seios de Anneliese. Ela permaneceu imóvel e séria. Então ele a tomou nos braços e beijoulhe a boca, não com a fúria que imaginava, mas com uma ternura comovida e insuspeitada.
Anneliese repeliu-o sem violência e pôs o motor do carro em movimento. Voltaram para a cidade a toda velocidade.
Vasco estava tão assombrado com tudo quanto acontecera, que nem protestava contra aquela fuga, não sentia o menor amargor por não ter podido levar mais longe as suas investidas amorosas.
- Ach, was fúr ein Wilder! - disse ela quando já estavam de novo na Tristeza.
Ele não entendeu. Mas sorriu.
Quando entrou em casa era quase meia-noite.
O companheiro de quarto ainda não havia chegado. Despiu-se, botou o pijama, deitou-se. E de repente pensou numa coisa extraordinária. Fazia apenas oito horas que estava em Porto Alegre, e quanta coisa acontecera! Tinha a impressão de que se haviam passado pelo menos três dias...
Não podia esquecer Anneliese: o narizinho que se enrugava quando ela ria, a boca vermelha e polpuda.
Levantou-se, foi até a janela e encontrou o mesmo luar que vira em Ipanema. Ficou olhando a noite, pensando, recordando. E à lembrança do casarão, de Xexé, de João de Deus com o olho sangrando, de Jovino cheirando a cachaça, se misturava a cara branca, fresca e gostosa de Anneliese.
Deitou-se de novo. Apagou a luz. Os mosquitos zumbiam.
Vasco rebolcou-se na cama, inquieto. Estava excitado. Tirou o casaco, pois sentia agora muito calor. Ficou com o tronco nu. Era já madrugada alta quando conseguiu dormir.
Acordou cedo. Levantou-se alegre. Viu que havia alguém na outra cama. Entrou no quarto de banho e tomou uma ducha fria. Voltou, vestiu a camisa e as calças, escovou os dentes com tanto entusiasmo que bateu com o cotovelo no lavatório de ferro, fazendo tombar a bacia com grande ruído. Olhou para o desconhecido. Debaixo da colcha creme da outra cama emergiu uma cabeça selvagem: primeiro os cabelos eriçados e revoltos, depois dois olhos vivos e ariscos de animal de toca e finalmente a cara amarrotada com uma expressão amarga de ressaca.
- Desculpe... - murmurou Vasco.
O outro resmungou qualquer coisa e se voltou para a parede. Vasco sentou-se na cama para amarrar o cordão das botinas. Em breve, porém, sentiu que os olhos agressivos estavam em cima dele. Ergueu a cabeça.
- Quem é você? - perguntou o outro com voz hostil. Vasco não simpatizou com a cara. Respondeu com
pouca cordialidade:
- O meu nome é Vasco.
- Quem foi que lhe deu licença pra dormir aqui?
- Foi o bispo.
Pôs-se de pé com raiva e começou a atar a gravata na frente do espelho. O outro sentou-se na cama e coçou a coroa da cabeça, bocejando. Depois levantou-se e foi até a janela. Vestia um pijama muito amassado, de mangas curtas, todo cor-de-rosa com listras azuis. A luz do sol bateulhe em cheio na cara que Vasco podia ver pelo espelho. Era um rapaz de aspecto doentio. Tinha a pele dum amarelo de lima madura; um bigode ralo lhe escorria pelos cantos da boca; uma barbicha pontuda lhe escurecia o queixo. Começou a falar com ar distraído, sem olhar para Vasco:
- Se eu fosse rico, me consultavam. Como sou pobre metem qualquer um no meu quarto sem me dizerem nada.
Vasco fingia não ouvir. Assobiava e exagerava nos cuidados com a laçada da gravata.
- Esses burgueses são todos iguais - continuou o outro. - Mas há de chegar o nosso dia... Essa sociedade podre vai à gaita... Eles vão pagar caro.
Vasco enfiou o casaco. Estava perdendo a paciência. O outro atirou-se na cama de novo, desabotoou o casaco do pijama e começou a coçar o peito cabeludo.
- O que mais me espanta é a cegueira dessa gente. Não enxergam o precipício para onde vão caminhando...
Ah! Mas o nosso dia há de chegar. ..
Vasco resolveu levar a coisa na brincadeira. Parou junto da cama do outro e perguntou:
- Mas afinal de contas, não sei com quem estou tratando. Será com o Sr. Lenine?
A boca do outro se retorceu numa expressão de desprezo:
- Brinque ... - disse ele. - Ria... É mais fácil. Você decerto não passa também dum burguesote como os outros. Ria enquanto pode, porque há de chegar o dia do choro.
Vasco começava a divertir-se.
- Pois não se esqueça de mim, camarada Lenine. Conto com o seu prestígio na hora de repartir o bolo...
O outro ergueu-se, levantou do chão a bacia e despejou-lhe água dentro. Molhou as faces, os olhos, os cabelos. Pegou uma toalha. Vasco preparava-se para sair. Aproximou-se da porta, pegou a maçaneta, voltou-se para o companheiro e lhe disse em tom sério:
- Vou pedir pra me botarem noutro quarto, não se impressione.
O rapaz de cara amarela ficou olhando para Vasco, com a cabeça gotejando, a toalha na mão. Depois falou:
- Pode ficar. Não se importe com o que eu disse. Amanheci’azedo, acho que este ano vai ser perdido pra mim, porque não cavei ainda o dinheiro da matrícula... Está tudo podre!
Envolveu o rosto na toalha e começou a esfregá-lo com fúria. Vasco fechou a porta e desceu, pensativo.
Àquela hora Amaro estava acordado. Sentia-se inexplicavelmente feliz. Inexplicavelmente? Sim. Preferia não analisar aquela sensação de bem-estar, de alegre expectativa, de quase esperança. No entanto tinha graves motivos para estar apreensivo. Cada dia que passava, a sua situação se tornava mais nitidamente séria. As economias acabavam. Não aparecia emprego. Em breve seria forçado a mandar o piano embora. No fim teria de deixar também a pensão, à procura dum quarto mais barato e modesto. Mas - que diabo - estava alegre...
Vestiu-se cantarolando a Navarra, de Albeniz. Enquanto enfiava nos ilhoses os cordões das botinas, ficou a pensar em que o estranho de tudo aquilo era o ter-se avivado assim quase de repente um sentimento que ele julgava morto. Era como se toda a sua paixão (poderia usar no seu caso o termo paixão?) tivesse ficado todos aqueles anos guardada a sete chaves num cofre secreto, esquecida, invisível - mas intata. Agora ela era trazida de novo para a luz, não vinha cheirando a naftalina, não tinha mirrado
- pelo contrário: surgia mais forte, mais corpórea, mais palpável, mais... O pior era o ridículo de tudo aquilo. Tinha espelho no quarto: e também dois olhos imparciais para ver o seu aspecto exterior e interior.
Calçou os sapatos. Percebeu que estavam rostidos e cambaios. Precisava dum par novo. O dinheiro é que andava curto. E de mistura com a lembrança do dinheiro veio uma frase da Navarra e o rosto de Clarissa. E depois tia Manuela passou varrendo tudo com suas saias compridas.
Amaro apanhou o jornal debaixo da porta. Abriu-o na página dos ”Pequenos Anúncios”. Procurou com o dedo. Lá estava: PROFESSOR DE PIANO ’’competente oferece seus serviços. Métodos rápidos e modernos. Atende a domicílio. Tratar com Amaro Terra”. Lendo o seu nome em letra de forma, ficou um pouco perturbado. Quando adolescente sonhara com a popularidade, o nome em letras grandes nos cabeçalhos dos jornais: Amaro Terra conduzindo uma grande orquestra, num grande concerto, num grande teatro. Mas ali estava agora o nome em tipo miúdo, apagado, t humilde, podia-se dizer até ”anónimo”. Professor competente oferece seus serviços ...
Uma nuvem cobriu por um momento o seu céu de felicidade. Mas se dissipou logo. Do jardim subiu a voz de Clarissa, que gritava alguma coisa para alguém. Voltou a melodia de Albeniz.
Homem, estás ridículo.
- Clemência não queria perder tempo. Precisava resolver o caso de Clarissa. Se conseguissem a transferência dela para Porto Alegre, ficariam; caso contrário, teriam de ir para Santa Clara. Trazia uma carta do Dr. Penaforte para o Secretário da Educação, que havia sido seu colega nos tempos de ginásio. Era essa carta a sua maior esperança. Mas D. Zina lhe dizia:
- Quanto mais pistolão, melhor. Só essa carta, não sei... acho que não chega.
Lembrou-se duma prima distante casada com o Desembargador Godinho. Podiam fazer-lhe uma visita, contar-lhe toda a história e no fim pedir ao desembargador que escrevesse um cartão ao Secretário da Educação, dizendo que se interessava pela menina... Não era uma ideia esplêndida? D. Clemência achou que era. Ficou resolvido que iriam num sábado à casa da prima.
Esse sábado chegou. Tio Couto deu o seu palpite:
-Vocês não arranjam nada.
- Sai daí, Couto, não seja bobo.
- Não arranjam. O desembargador é um egoísta.
- Tu não sabes o que estás dizendo. ..
- Sei. Quando eu andava na mão, o desembargador podia ter mexido os pauzinhos em meu favor. Não fez nada. É um comodista.
- Ora. ..
- Escrevam o que eu digo. Vocês não arranjam nada. As mulheres prepararam-se para a aventura. Clarissa
tentou furtar-se à visita embaraçosa. D. Zina porém, achou que a presença dela era indispensável ”para impressionar”.
Foram. Fazia muito calor. Tomaram um bonde, desceram a meia quadra da casa do desembargador. D. Zina não se lembrava exatamente do número. Mas viram logo a placa.
- É aqui.
Apertaram o botão da campainha. Uma criada veio abrir a porta. Hesitou, quando lhe perguntaram se o desembargador estava em casa. Mas D. Zina fez avançar o corpo enorme e foi dizendo:
- Nós somos de casa, sou prima da Nora.
Constrangida, a criada fê-las entrar para a sala de visitas. Clarissa estava com o rosto em fogo. D. Clemência lembrou-se do sonho horrível daquela noite: o marido lhe aparecera para dizer que ela não conseguiria nada, nada, nada e que devia voltar para Jacarecanga.
Sentaram-se em poltronas fofas. Andava no ar um cheiro indefinível. Era da madeira dos móveis? Dos tapetes?
A mobília era de madeira dourada e dum vago Luís XV, muito frio e convencional. Por cima do sofá, na parede, havia um gobelim: o Grito do Ipiranga. Mais alto, uma imagem do Coração de Jesus com lâmpadas coloridas engastadas na moldura.
Clarissa olhou com horror para um jarrão onde se via pintada uma paisagem egípcia: uma pirâmide contra um céu esbraseado: silhuetas de camelos e beduínos. Depois seus olhos passearam pelas almofadas de cetim de cores berrantes, com marquesas e marqueses, japonesas e ciganos.
Elas não tinham coragem de falar. A sala não convidava. Impunha-lhes silêncio. Era fria, cerimoniosa, incoerente, escura.
Ouviram-se passos macios. Uma mulher alta, magra e muito tesa entrou na sala. As três visitantes ergueram-se.
Ouviu-se um pigarro agudo.
- Zina deu dois passos e estendeu a mão. A recémchegada espremeu os olhos para ver melhor.
- Então, Nora, não me conhece mais?
A mulher alta levou a mão em concha ao ouvido.
- Que tem? - perguntou.
- Não conhece mais a prima Zina?
Ficaram um instante de mãos dadas. Nora manteve-se alguns segundos em silêncio, com ar apreensivo, pensando.
Depois disse:
- Ah!
Olhou para Clarissa e para D. Clemência. D. Zina apresentou:
- Esta é a Clemência, minha irmã. - Aperto de mão rápido. - Esta é a filha dela, a Clarissa.
- Ah!
Clarissa estendeu a mão. A dona da casa apertou-lhe as pontas dos dedos.
- Sentem.
Sentaram-se. Silêncio. D. Clemência suspirou baixinho. D. Zina se remexeu na cadeira. Clarissa olhou para o Pedro I do gobelim, montado no seu eterno cavalo, levantando para o ar a sua eterna espada, soltando o seu eterno grito: Independência ou morte! Teria soltado mesmo? Clarissa duvidava. Havia tantas mentiras na História. .. Mas o que importava agora era aquela mulher magra, alta e fria ali muito dura no sofá, olhando pra gente com ar de quem pergunta: ”Mas afinal de contas, que é que vocês vieram fazer aqui a estas horas?”
- Zina falou.
- Não vê que a Clemência chegou há dias de Jacarecanga...
- Nora esticou o pescoço, levou a mão ao ouvido e perguntou:
- Que tem?
- A Clemência chegou de fora há poucos dias... berrou.
- Ah!
- Zina fez um esforço, ergueu-se um pouco, puxou a cadeira mais para perto da interlocutora. Explicou em voz baixa às companheiras:
- Não vê que ela é muito surda. ..
Clarissa sentiu que se não estivesse tão aflita, tão envergonhada, estaria achando muita graça em tudo aquilo.
- Mataram o marido dela no dia 31 de dezembro.
A cara da dona da casa ficou impassível. Não tinha ouvido. D. Zina ergueu-se e foi sentar-se no sofá ao lado dela.
- Não vê que mataram o marido dela...
- Sim...
Agora quase berrava ao ouvido da prima.
- Ela quer ver se consegue a transferência da filha dela pra cá. Não vê que a menina é professora. ..
- Nora sacudia a cabeça e ninguém podia saber ao certo se ela estava ouvindo ou não.
- Pois é... Nós queremos ver se conseguimos a mudança dela...
- Transferência, Zina - corrigiu D. Clemência.
- ... transferência dela para cá.
- Ah...
Agora Clarissa via melhor os bibelôs do aparador, a um canto da sala. Um pierrô tocando banjo. Um garoto com uma enorme mosca pousada no nariz. Uma camponesita de bronze segurando um balde que era um relógio. Um vaso de vidro verde com flores amarelas.
- Então nós viemos ver se o Desembargador Godinho nos dava um cartão. . .
- Que tem?
- ... se o desembargador nos dava um cartão de recomendação ao Secretário, pra ajudar, senão a pobre da menina...
A voz de lã, a voz surda, abafada e macia de D. Nora interrompeu-a:
- O Godinho não se mete nessas coisas...
Disse isto sem nenhuma hostilidade, com um ar indiferente ou, antes, natural. Repetiu:
- O Godinho não se mete... O Godinho não se mete, pois é.
- Zina não desanimou:
- Mas, prima, é uma coisa tão simples, só um cartão dizendo que se interessa pela menina...
- Nora encolheu os ombros e disse que ia chamar o marido. Pediu licença e saiu, fechando a porta. Clarissa sentiu uma impressão de alívio ao vê-la desaparecer.
- Será que o Couto tem razão, meu Deus? - perguntava D. Zina, enxugando o rosto suado.
Passaram-se cinco minutos.
A porta se abriu. Nora voltou. Poucos segundos depois apareceu um homem. Era o desembargador. Entrou caminhando lento e pesado na direção das visitantes. Era um homem baixo, gordo e sombrio. Lembrava à primeira vista uma capivara, mas uma capivara sem élan, sonolenta e tarda. Estendeu para as mulheres uma mão gorda, frouxa e úmida. Ao cumprimentar, manteve os olhos desviados das pessoas que cumprimentava. Sentou-se sempre em silêncio, descansou os cotovelos na guarda da poltrona e enlaçou as mãos sobre o ventre bojudo.
Clarissa analisava o Dr. Godinho. O nariz dele era redondo, miúdo e lustroso: não ia além do nível das bochechas. Seus lábios, grossos, secos e arroxeados. A papada mole caía-lhe sobre o colarinho. O cachaço se derramava sobre a gola de veludo cor de vinho do fumoir.
O desembargador olhava as mulheres com olho curioso e espantado. Que queriam? A que vinham? Fungava. Esperava. Sua respiração era funda, a barriga subia e descia, um grosso fio de cabelo entrava e saía numa das fossas nasais.
Nora inclinou-se para o marido.
- Essa é a Eufrasina... Apontou.
- É ... - fez ele com ar vago, fingindo que se lembrava.
- Aquela é irmã da Eufrasina, veio de fora, mataram o marido dela.
-É.
Silêncio.
- Não vê que... - ia começando D. Zina.
Mas Nora, sempre inclinada sobre o esposo, explicava:
- A mocinha é professora, quer ser transferida para cá. Não é? - perguntou, olhando para D. Zina. E antes que esta tivesse tempo de fazer o menor sinal, D. Nora voltou-se de novo para o marido e continuou:
- Querem que tu dês um cartão de recomendação para o Secretário da Educação...
O desembargador escutava, impassível, os olhos meio fechados.
- Eu já disse para elas que tu não te metes nessas coisas...
- É só um cartão, desembargador - avançou D. Zina, com voz suave, sorrindo.
Clarissa morria de vergonha. Pedir era horrível. compreendia que estavam sendo importunas. Previa uma resposta negativa. Desejava nunca ter vindo...
- Silêncio curto. O desembargador meditava. Depois, antes mesmo de pronunciar a primeira palavra da resposta, começou a sacudir lentamente a cabeça:
- É... Não posso. Não posso. Absolutamente. Não posso. - Tremiam-lhe as bochechas. A papada tremia. É... Não posso. - Todo o seu corpo era uma negativa. A cabeça não podia, os olhos, a barriga, as mãos, as pernas, os pés: nada podia naquele corpo.
- O Godinho não se mete nessas coisas - reforçava a mulher. - Não pede nada, nem para ele.
Então o desembargador cessou de não poder. Deixou de tremer. Fez-se um silêncio ainda mais fundo.
O Dr. Sidônio Godinho lembrou-se então do dia em que (era ainda juiz de comarca) um chefe político lhe tinha vindo pedir ”camaradagem” para um eleitor seu, processado por crime de morte. Ele ouvira calmo a arenga e depois sacudira a cabeça energicamente: ”Não posso. Absolutamente. Não posso. Sou juiz. Farei justiça”.
Pensando nisto ele se admirava. Podia dizer que sua vida tinha sido uma linha reta. Discordava dos geômetras. A linha reta não era a distância mais curta entre dois pontos. Era a mais longa, a mais difícil, porém a mais limpa.
Nascera de gente pobre. O pai era alfaiate. Não chegara a conhecer a mãe, que morrera ao pô-lo no mundo. Para custear os estudos, empregara-se no comércio. Formara-se à custa de sacrifícios. Fizera um bonito curso. Gostava de dizer: ”Eu me fiz por mim mesmo”.
Gabava-se de ter casado casto e por amor. E uma de suas frases prediletas, quando se referia ao casamento e à esposa era: ”Ela veio sem trazer um ceitil de seu”. Estavam casados havia trinta e cinco anos. Não tinham filhos.
O desembargador era metódico. Tinha todas as suas coisas no devido lugar. Era econômico. Tomava nota de tudo quanto gastava. Aos sábados fumava um charuto depois do almoço. Aos domingos mandava buscar um bom vinho português no armazém.
Não fazia pilhérias. Jamais ria ou assobiava. Era pouco amigo da música (”como Napoleão” - explicava). Não dava esmolas por princípio, mas mandava todos os meses vinte mil-réis para o Asilo dos Mendigos.
Todos os dias, religiosamente, antes de dormir lia ”A FEDERAÇÃO”. Lembrava-se com saudade dos artigos políticos de Júlio de Castilhos e olhava com muita desconfiança para todos os livros escritos depois de 1899.
Uma vez por semana ia ao cinema. Gostava de dramas sérios, principalmente dos que mostravam juizes incorruptíveis que sacrificam alguma pessoa da família em benefício da Justiça. Preferia os filmes alemães e franceses aos americanos, porque os primeiros, a seu ver, eram ”mais sérios, o senhor vê, mais substanciosos e intelectuais”. Dos americanos só gostara verdadeiramente de A CABANA DO PAI TOMÁS, que o comovera até as lágrimas. Admirava-se de ainda não terem filmado A MORTE CIVIL, aquele drama tão belo, tão forte que ele vira ali no S. Pedro pelo grande Salvini, sim senhor, pelo Salvini em carne e osso. Quando via desenhos animados não achava graça e ficava revoltado quando alguém perto dele soltava risadas. Na sua opinião aqueles bonecos que se mexiam eram divertimento de criança. No entanto, quando abria velhos livros de Camilo Castelo Branco e lia as crônicas que o escritor português salpicava de humorismo, achava as ”piadas do homenzinho” deliciosas, ria alto, erguia-se ainda convulso, chamava a mulher, caminhava para ela com o livro na mão: ”Veja só, Nora, este Camilo tem boas!”
Não tinha vícios. Já agora no fim da vida, a sua principal preocupação (muito secreta, muito escondida de todos, até da mulher) era não desgostar o Governo, não contrariar o partido dominante. Tinha horror à injustiça e fazia o possível para ser equânime e justo nos menores atos da vida. Quando a criada lhe dizia: ”O homem das frutas está pedindo 400 por cada laranja de umbigo. Não é caro, patrão?” ele baixava a cabeça e entrecerrava os olhos. Pensava um instante e depois dizia: ”Não, Maria, é justo. É. É justo. Pague”.
Às vezes queixava-se à mulher:
- Uma pena não termos filhos.
Ela sorria. E o seu sorriso parecia dizer: ”Agora é tarde, meu velho”.
Tinham um cachorro de estimação. O Totó.
Era aquele animalzinho peludo e roliço que aparecia agora ali na porta e se punha a rosnar desconfiado para as visitas. A fisionomia do desembargador se transformou. Iluminou-se duma estranha luz de alegria paternal.
- Totó! - Estralou os dedos gordos. - Venha com o papai!
O cachorro caminhou para ele e saltou-lhe ao colo. O Dr. Godinho afagou-lhe a cabeça, carinhoso. As três mulheres se entreolharam, embaraçadas.
- Onde é que o caçolinho do papai estava, hein? Conteve-se. Não queria perder a linha diante das visitas.
- Mas é só um cartãozinho, desembargador - tentou de novo D. Zina.
- É... Mas não posso. É. Não posso.
De novo suas banhas começaram a tremer. Totó latia agressivo para Clarissa.
Silêncio. Suspiros. Olhares.
- bom. Então vamos, não é?
- Vamos - gemeu D. Clemência. Levantaram-se.
De novo a mão fria, suada e mole do desembargador.
- Passe bem. É. Não posso. Nessas coisas não me meto. É. Não peço nada. Não é meu costume.
Despediram-se de D. Nora.
- Desculpem o incómodo - disse D. Zina.
Saíram. Viram-se de novo sob o olho do sol. Calor de fornalha. Ar parado.
- Clemência sentiu que a luta começava. Aquele fora o primeiro fracasso. Tinha o pressentimento de que muitos outros viriam. A indiferença quase hostil do desembargador ia decerto passar para a cara de todos os outros habitantes da cidade. ”Não posso” - diria o Secretário. - ”Não posso.” E todos os outros haviam de repetir que não podiam. Teria sido melhor ficarem em Jacarecanga. Não darem ouvidos às conversas do rapaz. . . E Vasco? Que fazia ele? Decerto andava perdido, na pândega, nem pensava em procurar trabalho.
- Meu Deus, que gente! - exclamava D. Zina. - O Couto é que tinha razão.
Clarissa ia com o rosto ardendo. Era o sol ou a vergonha?
- Clemência agora pensava na carta do Dr. Penaforte: a sua única esperança.
Entraram no primeiro bonde.
Em 1892 um certo Cap. Pádua Cardoso caminhava em passadas duras por aquele beco de Porto Alegre. Viera do interior a chamado do presidente do Estado. Ia furioso. com o rabo dos olhos (era desses homens que só olham para a frente e para o alto) tinha consciência da presença das dragonas douradas, que faiscavam ao sol. Segurava firme a espada com uma das mãos, enquanto com a outra amassava as luvas brancas. Uma sensação estranha lhe pesava no peito. Ele sabia que seus inimigos o haviam enredado numa intriga. Oh! Mas ele se mostraria altivo, não curvaria a espinha. No fim de contas o presidente do Estado era apenas um homem e o respeito à autoridade tem limites . . .
O capitão de suíças negras e bigode retorcido descia o beco. Ia tomar o primeiro carro que aparecesse. Ou seria melhor chegar ao Palácio a pé, como um bom soldado de infantaria?
com as botinas de verniz chispando, o capitão continuava a descer pelo beco. Imaginava-se desafiando o presidente do Estado para um duelo. Via-se na prisão. E seus passos eram cada vez mais duros e seu rosto cada vez mais se erguia para o céu.
Quase quarenta e cinco anos depois, o neto do Cap. Pádua Cardoso descia ao longo da mesma calçada. Em lugar do beco se abria agora uma larga rua com altos edifícios dum cinzento-esverdeado e fosco. Quase nada restava das velhas pedras que tinham visto o militar de dragonas e a sua fúria naquela tarde dum outono remoto. Pela rua passavam grandes bondes barulhentos. E automóveis. E havia em muitas fachadas tabuletas coloridas.
Vasco descia a rua e nas passadas de Vasco havia um pouco da rigidez do andar do avô e na sua cabeça ainda se notavam vestígios daquele orgulho, a sombra daquele penacho.
Naquela tarde Vasco sentia de novo a grande fúria que lhe tomara conta do corpo e da vida depois da visita à toca do Gen. Campolargo. Era uma ânsia sem nome, uma alegria estranha, um formigamento tão singular que ele tinha a impressão de que andava no ar. Chegou a parar na frente da primeira vitrina para ver no espelho do fundo se aquele contentamento monstruoso não lhe havia desfigurado o rosto. Não. Ali estava a mesma cara morena e alongada... Mas os olhos tinham um fulgor meio selvagem.
Vasco continuou a caminhar. Sentia no peito uma opressão que era a um tempo aflitiva e agradável. Parecia o peso duma grande expectativa.
Pela primeira vez experimentara uma sensação de liberdade quase completa. Estava numa cidade estranha. Era um desconhecido. Sentia-se por isso seguro e liberto. Isso lhe dava ímpetos de gritar.
A fúria lhe fervia no peito. E seus olhos pulavam dum lado para outro. Subiam pela fachada dos edifícios, entravam pelas portas das lojas e dos cafés, passavam de relance pelos transeuntes, seguiam a carreira macia dos automóveis, acariciavam as formas das mulheres, batiam de chapa nos cartazes coloridos, perdiam-se, diluíam-se na perspectiva da rua.
Ah! Se ele pudesse viver todas aquelas vidas, estar em todos os corpos, conhecer todas as almas, encontrar-se ao mesmo tempo em toda a parte, dissolver-se no ar morno da tarde; fazer parte do azul do céu, rodar na roda dum automóvel, correr como seiva nos troncos das árvores ali na praça, ser a simples janela que dum último andar qualquer olha o rio; ou então aquele burrinho ruço que passa puxando a carroça da confeitaria...
Vasco enfiou as mãos nos bolsos com entusiasmo e começou a assobiar. O andar do avô militar desapareceu. Seu olhar fixou-se num cartaz. Compre Móveis ”Primor”. Álvaro Basso & Cia. Álvaro... Pensou por um instante no pai. Por onde andaria ele? Vivo? Morto?
Oh! Decerto ele herdara do velho Álvaro Bruno aquela paixão voraz pela vida, aquela sede de viagens, aquele desejo de sair sem lei nem rumo, à aventura, não tomando conhecimento das convenções ou conveniências sociais. Simplesmente viver. Viver e pintar e viajar! Andar pelas ruas como dono do mundo, entrar, por exemplo, ali naquele mercadinho, apanhar uma maçã, sair com ela sem pagar nem olhar para ninguém, descer a rua trincando a fruta, comendo-a despreocupado para depois jogar-lhe os restos fora, sem remorsos, à primeira esquina... Sim, devia ser do pai aquela fúria. E fora decerto num dia de fúria que Álvaro Bruno os abandonara, ao filho e à mulher, ali em Porto Alegre, tomando o vapor... para onde? Foi decerto essa fúria que o trouxe da Itália em terceira classe como arquivista duma companhia italiana de operetas que vinha para o Brasil. E foi a mesma fúria que venceu o orgulho dos Albuquerques; que saltou o obstáculo da vontade do velho Olivério e arrebatou do casarão a menina Zulmira... Todos no casarão o censuravam... Velho Álvaro! A vida é boa e é bom ser livre...
Vasco continuava a andar. Possuía a rua, gozava a rua, exaustivamente. Todos os seus sentidos estavam alertas. Se fosse possível abraçar a rua, comer a rua, penetrar as mulheres, as casas, o céu provocantemente azul...
De repente descobriu que estava mesmo com fome. Mas
- oh! - não era só fome. Devia ser também desejo de mulher. Pensou em Anneliese e no beijo que lhe dera à beira do rio, ao luar.
Passou uma rapariga de vestido branco e boina azul. Ele lhe acariciou os seios em pensamento. Sentia nisso um prazer singular. O que lhe despertara o desejo de acariciar seios, fora um romance que lera aos dezoito anos. (Marvin lui caressa lês seins doucement.) Vasco sentiu nas mãos, num rápido momento, a lembrança tátil dos seios de Anneliese.
Ia atravessar uma rua. O guarda abriu os braços. Ele parou.
Olhou para dentro dum bar. No interior sombrio um homem rubicundo, gordo e calvo estava sentado diante dum copo de chope; passava o lenço pelo rosto suado, ao mesmo tempo que lambia o bigode de espuma branca.
A um sinal do guarda, Vasco continuou a andar.
Sorvia com volúpia os odores da rua. O aroma de café torrado misturava-se com o cheiro azulado da gasolina. (Por que não dar uma cor aos cheiros? Assim seria possível pintá-los...) Mais adiante sentiu o cheiro oleoso de tinta fresca. Do interior duma loja lhe veio um frio bafo de ferragens, e seus olhos viram de relance fogões esmaltados, panelas e chaleiras de alumínio, um homem magro e alto, sem casaco, fumando. Depois, três passos adiante, uma onda de perfume lhe chegou às narinas: homens de guarda-pó branco, espelhos, instrumentos niquelados: uma barbearia.
Passou um caminhão todo pintado de laranja vivo. O vulto amarelo dum bonde estacou com um rangido. Uma grande tabuleta vermelha avançava para a rua anunciando uma liquidação.
Garotos gritavam nomes de jornais. O movimento de transeuntes ali era mais vivo. Vasco não sabia mais onde focar o olhar. O formigueiro humano se adensava, dandolhe tonturas. O ar se enchia de ruídos: buzinas, zumbidos, apitos, guinchos, estalidos, vozes humanas. Um caminhão de propaganda passou e o seu alto-falante despejou no ar uma voz de soprano exageradamente ampliada. (Num relâmpago Vasco imaginou uma Jeanette MacDonald do tamanho dum dos arranha-céus da quadra.)
Um camelo magro, montado em pernas de pau, dominava a rua. com a sua bengala de Carlitos apontava para uma casa e gritava: ”Entrai V. S.a na casa que mais barato vende: a Sapataria Oriental!”
Os olhos de Vasco estavam agora fitos na massa verde do arvoredo da praça. Sensação de frescura. Lembrou-se do capão que havia na frente da casa da estância de João de Deus. Como se se lembrasse dum sonho longínquo...
Por cirna do verde das copas, sempre o céu esmaltado de azul.
Vasco ficou alvorotado. Quisera pintar aquele trecho da rua, prender numa tela aquele instante colorido e tumultuoso. Pintar, mas dando movimento aos autos, aos bondes, às folhagens e às criaturas. E quem olhasse o quadro deveria ter a impressão de que as pessoas e os veículos se renovavam, a cada momento, nunca eram os mesmos: e o céu também teria de mudar de cor com a passagem do tempo; e o próprio tempo possuiria uma cor e um desenho; até o vento e o desejo das criaturas que passavam deveriam aparecer também na tela.
Ah! Mas isso é impossível! Sou um idiota!
Pintar era bom. Viver era bom! Via passarem por ele dezenas e dezenas de caras, masculinas, femininas, assexuadas; fisionomias alegres, tristes, indiferentes, dolorosas, ansiadas, exultantes; vermelhas, cinzentas, morenas, brancas, rosadas, pretuscas, esverdeadas, amarelas e até azuladas ... Quisera pintá-las todas no mesmo quadro e ao mesmo tempo. Quisera conhecer o segredo de todas aquelas almas, a história de todas aquelas vidas... Era besta , mas gostoso estar sentindo aquelas coisas...
Atravessou a rua, ziguezagueando. Teve de correr para não ficar sob as rodas dum Auburn. Entrou no abrigo da Praça 15 com a impressão de que mergulhava numa casa de marimbondos. Lembrou-se de que um dia, numa outra vida, ele e Xexé tinham ido ao mato derrubar uma casa de marimbondos. Os bichos ficaram assanhados e seu zumbido era uma miniatura daquele que enchia o abrigo, escorregando pelo teto e paredes, e fugindo para o ar livre.
Um alto-falante invisível jorrava a música dum samba. Quando a melodia cessou, uma voz de gigante declarou que o sabonete Romola era o melhor e o mais barato do mundo. Ouviu-se um chiado: a música recomeçou.
Chegavam bondes a todo o instante. Suas portas movidas a ar comprimido se abriam com um bufido. Homens e mulheres (muitos levavam embrulhos, alguns puxavam crianças pela mão) investiam para a porta, acotovelavam-se, empurravam-se e entravam desordenadamente. Um empregado da Carris (com um dos braços amputados) gritou: ”Floresta, primeiro!” Outro bufido. Nova investida, novos atropelos.
Vasco caminhava dentro da colmeia. Um pretinho com cara de símio berrou-lhe na cara o nome dum vespertino. Vasco tirou um níquel do bolso e comprou o jornal. Olhou a primeira página mas os encontrões que lhe davam, os ruídos que o ensurdeciam e aquela fúria que levava no peito não o deixaram ler... Ele via as letras graúdas em negrito no cabeçalho, mas elas dançavam, recusavam-se a formar palavras... Continuou a andar. Estava feliz. Fazia a sua viagem. Ele próprio era um daqueles veleiros com que sonhara na infância. E era ao mesmo tempo o capitão e o passageiro do barco. Os homens que se agitavam em torno eram as ondas.
Olhava as tendas que se alinhavam contra a parede do abrigo. Um homem ruivo, de óculos, vendia chocolate, doces e bombons. Um sujeito melancólico de cara inteligente e nariz recurvo (devia ser judeu) vendia livros, revistas e jornais. Um chinês muito pálido, de testa larguíssima e olhos miúdos, estava debruçado no seu balcão: colares, leques, gravatas e brinquedos. Um homem baixo e gordo, com maus dentes e bigode caído, gritava com sotaque italiano: ”Oia o gachorro guente!”
Vasco olhava e gozava. Aquilo era excitante, pitoresco, gostoso. Alemães, judeus, chineses, italianos, mulatos...
Bondes continuavam a chegar e a sair, barulhentos.
O alto-falante não se calava. Atropelos. Acotovelamentos.
No centro do abrigo, sentados ao redor de pequenas mesas de mármore, homens dos mais variados aspectos conversavam animadamente. Garçons de calças pretas e casacos curtos, dum branco encardido, passavam pelo labirinto de pernas, cadeiras e mesas, levando bandejas com pequenas xícaras e bules.
Um negrão gritou para Vasco, apontando para os seus sapatos: ”Engraxa!”
Era um preto soberbo. Tinha pescoço de atleta, cabeça em forma de pêra. Uma camiseta de raias vermelhas e negras modelava-lhe o torso atlético.
Vasco sentou-se na cadeira. E durante alguns instantes esteve a pintar mentalmente o negro.
Ficou depois pensando em como seria bom ter dinheiro para engraxar os sapatos em todos os engraxates; comprar a todos os tendeiros; dar gorjetas a todos os garçons; sair como um Papá Noel bobo e bondoso, distribuindo frutas e doces, livros e cachorros-quentes a toda a gente. Pensou em Álvaro. Sim, devia ser o sangue do pai. O esplêndido maluco! Lembrou-se duma frase de João de Deus: ”Quem não tem vergonha todo o mundo é seu”.
- Pronto, patrão!
O negro ergueu-se, arreganhando os dentes. Vasco jogou-lhe uma moeda de mil-réis.
- Guarde o troco!
Saiu a andar. Teve vontade de aproximar-se da tenda dos refrescos tricolores e dar um beijo na boca da menina morena que apresentava um copo de laranjada a um homem suado e lívido.
Viu um cacho de bananas, mancha amarela gritando no meio de abacates dum verde lustroso. Teve desejo de pintar aquela natureza morta. Depois ficou sem saber se queria pintá-las ou comê-las. De algum modo os dois desejos se confundiam. Havia momentos em que, diante duma mulher bonita, não sabia se a queria como fêmea, como modelo ou como ambas as coisas juntas. E chegava, incoerente, à conclusão de que o ideal seria possuí-la dos dois modos, ao mesmo tempo, com a mesma força de penetração, a mesma voracidade.
Deixou o abrigo. Pensou em Anneliese. Havia de encontrá-la ainda. Queria beijá-la de novo.
Era bom estar vivo. Era um milagre estar respirando. Era uma esperança ver a seu redor tanta vida, tantas portas abertas, tantas possibilidades de prazer, e aventura...
Ó velho Álvaro! É bom a gente não ter vergonha. Todo o mundo é nosso.
Saltou para dentro do primeiro bonde que passou.
Ao avistar a pensão, sentiu-se deprimido. Aquela casa lhe lembrava coisas desagradáveis ’como a de estarem em Porto Alegre, havia quase uma semana, e ele não ter dado ainda um único passo à procura de emprego.
Entrou. Lavou as mãos e o rosto, penteou-se e desceu para o refeitório. A sala já estava cheia.
Sentou-se melancólico no seu lugar. Estava irritado e irritava-se ainda mais por ver que estava irritado. Sorriu amarelo para Clarissa, que o contemplava com uma ruga de preocupação na testa. Olhou com o rabo dos olhos para os rapazes da mesa grande, que riam e falavam alto. Aborrecia-os. Achava-os pretensiosos, tolos e fúteis. Depois, percebera, também revoltado, que eles olhavam com insistência para Clarissa, dirigiam-lhe sorrisos, palavrinhas, gestos: tomavam confiança. Agora estavam falando em carnaval, os idiotas!
Tio Couto fez uma pergunta, que Vasco não ouviu. Falou mais alto:
- Estás surdo, homem?
- Quê?
- Estou perguntando se já caíste na farra.
Vasco encolheu os ombros. Na mesa grande soltaram uma gargalhada. Falaram em ”fantasia... pierrô vermelho ... dominó... nosso bloco... tasia...”.
Vasco trinchava o seu bife procurando vencer a depressão que o deixava sombrio. Por quê? Não havia motivo. Não passara a tarde alegre, com a fúria no corpo? Pensou no conde. Podiam conversar aquela noife. Talvez ele recobrasse o bom-humor. Mas o conde não tinha descido ainda.
Um dos rapazes da mesa grande dirigiu-se a Clarissa.
- Gostou da revista? - perguntou. Ela sacudiu a cabeça afirmativamente.
Vasco baixou os olhos e fingiu que não tinha ouvido nada.
- Clemência perguntou:
- Arranjaste algum emprego?
Ironia na pergunta? Sua sensação de desconforto aumentou. Teve vontade de quebrar o prato, virar a mesa e ir embora. Imaginava ver uma expressão de censura em todos os olhares.
Um dos rapazes estandardizados que estava às suas costas voltou-se para Clarissa:
- Clarissa! - gritou, atrevido. - Vamos enfezar neste carnaval?
Vasco ficou subitamente vermelho, voltou a cabeça e gritou:
- Enfeze com a sua avó. A resposta veio rápida:
- Não falei com você, seu idiota!
Vasco ergueu-se, fazendo tombar a cadeira. O outro também se pôs de pé, ágil. Atracaram-se. O punho fechado de Gato-do-Mato golpeou violento na cara do adversário, que caiu de costas sobre a mesa. Os outros três rapazes precipitaram-se contra Vasco, que começou a distribuir socos a torto e a direito.
Tio Couto pedia calma. As mulheres gritavam ou então simplesmente olhavam, na mudez do espanto. Cadeiras caíam. Pratos quebravam-se. Tinidos. Gritos. Agarrado por dois dos rapazes da mesa grande, Vasco tombou. Nesse instante o seu companheiro de quarto - o estudante de cara amarela - surgiu no alto da escada, atraído pelo barulho. Compreendeu tudo num relance. Desceu a escada de três em três degraus. Saltou como um tigre sobre o grupo e tomou o partido de Vasco. E os seis rapazes ficaram enovelados numa selvagem confusão de braços, pernas e corpos.
Só algum tempo depois, com o auxílio de alguns hóspedes é que tio Couto conseguiu separar os brigões. Vasco levantou-se do chão com a cara esfolada, o nariz sangrando. Clarissa desatou o choro. D. Clemência caminhou para ele com o guardanapo umedecido.
- Calma! - pedia tio Couto com voz trêmula. - Estamos numa casa de respeito. Calma! Que negócio é esse?
O estudante de Medicina queria investir de novo contra um dos rapazes estandardizados. Tio Couto segurou-o pelos braços.
Muito pálida, D. Zina, ajudada pela criada, levantava as cadeiras, juntava os cacos de pratos e copos. O conde, que descia naquele instante, olhou aborrecido para a confusão, para as caras descompostas e feridas dos rapazes, pegou o chapéu e saiu para jantar num restaurante.
Conversas entrecortadas. Comentários. Ninguém sabia direito como principiara a briga.
- Não é nada - dizia D. Zina para os rapazes, tentando sorrir. - Olhe, Francisco, não faça caso.
E dizendo isto, puxava a manga dum deles. Eram bons hóspedes. Precisava conservá-los. A muito custo fizeram Vasco e o estudante sair. Tio Couto acompanhou-os até o jardim, com a testa franzida.
- Muito bonito! - resmungava. - Muito bonito! Tamanho homem e se portando como moleque - disse para Vasco. - E você também, seu Veiga, que é que tinha de se meter onde não foi chamado? Muito bonito!
Vasco não respondeu. com o lenço manchado de vermelho enxugava o sangue que lhe escorria do nariz. Veiga ofegava ainda. O esforço tinha sido demasiado para os seus fracos pulmões. Mas como a luta lhe fora agradável e excitante!
- Muito bonito! E agora com que cara eu e Zina vamos ficar perante os rapazes? com que cara?
Vasco fingia não escutar. Sentou-se no degrau da escada que dava para o jardim. Veiga sentou-se a seu lado.
- Muito bonito - repetia Couto, obstinado. - És mesmo um verdadeiro Gato-do-Mato. Podia até ter um ataque de cabeça, brigando em cima da comida.
Vasco estava com a cabeça erguida, para fazer o sangue parar. Enxergava o céu fresco e claro da noite, mirava as estrelas. Olá, camaradas velhas! Sou uma besta.
Tio Couto voltou para dentro: precisava apaziguar os outros.
Vasco olhou para o companheiro, já com simpatia. Achou-o mais pálido à luz azulada da noite. Os olhos dele brilhavam dum modo inquietante. Vasco sorriu. O outro continuou sério.
- Quem brigou não fui eu... - explicou o primeiro.
- Foi o sangue do meu avô, um valentão dos antigos. Não sei... A gente lê livros e forma uma ideia do mundo. Fica odiando a violência, as guerras. Mas um dia um tipo diz uma coisa que a gente não gosta... zás!... a gente salta em cima dele e fecha o tempo. Não é horrível?
Veiga sorriu.
- Por que será que na prática tudo é diferente? - perguntou Vasco. - Eu não queria ser tão esquentado...
Calou-se. O outro continuava em silêncio. Estaria rindo por dentro? Ou simplesmente não o escutava, entretido com seus próprios pensamentos?
Por trás da casa fronteira um clarão poeirento anunciava que a lua ia subir.
- Me criei com poucos amigos... (Por que diabo estava ele agora tão sentimental, tão desejoso de confidências?) Na minha casa eu era um intruso, guri ruim, filho de pai ruim... Tenho as unhas assim afiadas porque precisei me defender... No fim fiquei agressivo... Mas no fundo... no fundo sou uma vaca sentimental...
Vasco sentiu que se havia excedido. Tinha o seu orgulho. Era o sangue dos Albuquerques. Quem fizera as confidências fora o filho de Álvaro, não o de Zuzu...
Veiga ficou um instante em silêncio e depois, da sombra onde se achava, murmurou com voz apertada:
- O ódio é a coisa mais sublime do mundo.
Estavam tranquilos os telhados ao luar morno daquela noite de fevereiro.
De luz apagada Amaro ficou debruçado à janela do quarto. Estava ainda chocado. A cena da sala de jantar lhe fizera mal, deixara-o triste. Batera no piano o adágio da Sonata ao Luar de Beethoven, e isso lhe trouxera alguma paz. Pensara em sair. Desistira. Era curioso: sentia um medo vago, inexplicável... A briga dos rapazes lembrara-o da mentalidade dos homens. Lá fora as ruas estavam cheias de homens, veículos, lutas, ruído. Era melhor ficar em casa. Era doce a sombra do quarto, agora que a luz da lua a empalidecia um pouco.
Ou ele não saira só porque, ficando, talvez pudesse ver mais uma vez Clarissa? A presença dela naquela casa lhe dava uma sensação morna, clara e tranquila como aquele luar de verão.
Agora não havia mais dúvida. Ele se entregava àquela certeza ao mesmo tempo doce e amarga. Amava-a. Não queria analisar os seus sentimentos. Sabia que no fim havia de esbarrar numa muralha de ridículo.
Mas amava Clarissa com tanta reserva, com tanta precaução, com tanta timidez, que nem chegava a desejá-la. Era um amor que não exigia maiores aproximações, não sonhava com a posse nem com a presença consentida, consciente e concreta da pessoa amada.
Naquela semana falara-lhe três vezes. A primeira fora no corredor:
- Oh! bom dia, seu Amaro, como vai?
- Vou bem, e a senhora? Está gostando de Porto Alegre?
- A gente custa a se acostumar...
Os olhos dela estavam tristes. Ele sentira uma estranha tontura. Fizera-se um silêncio embaraçoso. Separaram-se depois em silêncio.
Os outros dois encontros também foram rápidos. Ele tentara começar uma palestra, mas se surpreendera tropeçando nas palavras, pronunciando ”poblema” em vez de ”problema”, perdendo-se no meio dos períodos, gaguejando...
Amaro olhava a noite. Procurou interpretá-la musicalmente. Não queria pensar na vida, no futuro. O pouco dinheiro que tinha acabava-se. Era preciso procurar um emprego. Mas onde? Como? com quem?
Ouviu mentalmente a melodia serena e vagamente triste do noturno de Borodine. E lá veio com ela a imagem de Clarissa, os olhos tristes, o ar cansado. Ele não podia mais dissociar a melodia da imagem. Lutou por alguns instantes e por fim entregou-se a ambas.
Lembrou-se duma longínqua tarde de primavera e duma menina de quatorze anos que brincava descalça debaixo dos pessegueiros floridos.
Mas encolheu-se de súbito, sentindo uma dor aguda no ventre. Diabo! Teria sido aquela carne? Saiu do quarto às pressas. Podia ser também o feijão temperado. Correu pelo corredor. Ia tomar umas gotas de elixir paregórico. Ouviu ainda uma frase do noturno, num frenético molto agitato.
Embarafustou pela porta do quarto de banho. Ainda bem que estava desocupado!
Naquela mesma noite Gervásio Veiga contou a Vasco a sua história. Caminhavam ambos lado a lado pela beira do Guaiba. Brilhavam estrelas no céu alto. Piscavam luzes nas ilhas. Grandes barcos dormiam junto ao cais.
- Tudo me saiu torto.. - começou o estudante tudo errado, sujo, estúpido. Mas eu só vou contar a você o que há de essencial na minha porca vida, o meu drama, entendeu? Mal me lembro do meu pai, que parece ter sido um homem triste e apagado. Trabalhava numa loja qualquer e ganhava pouco. Morávamos apertados numa casa de três peças, úmida, fria e com goteiras. Sei que o velho se resfriou, apanhou uma pneumonia dupla e se foi. Mas se o coitado tivesse morrido logo não era nada. Levantou da cama e ainda viveu um ano, veja bem, um ano. Mas aquilo não foi vida, foi uma miséria, os pulmões comidos, botando sangue pela boca, tossindo, um inferno. Eu ainda me lembro que já andava com nojo de comer, via em tudo o sangue do meu pai...
Gervásio calou-se um momento. Ouvia-se no silêncio da noite o ruído seco das passadas dos dois rapazes nas pedras do calçamento do cais.
- Minha mãe não tinha iniciativa. Só se lembrava era de ir pedir auxílio à irmã casada com um sujeito que ganhou dinheiro nuns negócios meio sujos. O tio Candoca, o querido tio Candoca... - disse estas palavras com raiva.
- Você pensa que o tio Candoca se importava com a nossa vida? Qual! Ficava incomodado, nós éramos os parentes pobres que só davam trabalho e vergonha. Minha mãe nunca entrou na casa dele pela porta da frente. Não senhor! Entrava pelos fundos, pela porta de serviço. Ficava na cozinha quando tinha visita na casa do tio Candoca, figurões, gente fina... cheirosa... advogados, industrialistas... damas de caridade... Mas você pensa que o tio Candoca se impressionava com a nossa vida? Era um pão-duro. Dizia que os parentes queriam era explorar ele...
- Mas, e a mulher dele?
- Uma coitada. Queria ajudar a irmã mas tinha medo do marido. Nos dava restos de comida às escondidas, cinco mil-réis de quando em quando. Você acha que cinco mil réis e aqueles pedaços de osso podiam remediar alguma coisa?
- É incrível.
- E o mais extraordinário é que tio Candoca chorava no cinema ou no teatro quando via fitas ou dramas com gente pobre passando trabalho. E dava dinheiro pra hospitais de caridade, asilos...
- E não ajudava vocês? Não compreendo.
- Não é pra compreender mesmo. É pra ficar desiludido com a espécie humana.
- bom, mas nem todos são assim...
- Podem não ser, mas permitem que continuem existindo os tios Candocas. Festejam os Candocas, botam os retratos deles nos jornais, prestam homenagens, fazem discursos, dão medalhas... Isso não é cumplicidade?
Vasco encolheu os ombros. Houve um silêncio curto. As ondas mansas lambiam o paredão do cais, em gluglus macios.
- Um dia mamãe criou coragem e enfrentou o tio Candoca. Disse que o marido estava nas últimas. Sabe o que foi que a pérola aconselhou? ”Bota ele na Santa. Casa de Misericórdia.”
Veiga começou a assobiar com raiva. Vasco estava pensativo. Passaram pelo vulto dum veleiro. Brilhava ]uma luzinha vermelha no alto do mastro.
- Também me lembro do caixão vagabundo onde meteram meu pai, dava para ver a cabeça das taxas rasgando a fazenda ordinária. Depois ficamos sozinhos. Nem queira saber o que passamos. Mas tio Candoca não se comoveu. Decerto respirou, porque agora tinha um parente pobre a menos. Mamãe fez força pra arranjar um quarto na casa da irmã. Ofereceu-se como copeira. A pérola não quis, podiam descobrir que era cunhada dele, seria uma vergonha, um escândalo, um isso, um aquilo...
Silêncio. Pararam com os olhos voltados para o rio. Ficaram um instante sem falar, mas também sem ver o luar na água. Na mente de Veiga as imagens das coisas e pessoas do passado estavam esfumadas, imprecisas. Vasco, porém, as via com mais realidade: seres palpáveis, fisionomias de desenho nítido: imaginava o tio Candoca um homem gordo, viscoso e sonolento.
- Pra te encurtar a história. Minha mãe se prostituiu. Não tinha vocação, eu te juro. Mas que remédio? Não encontrava emprego, tinha pouca serventia, quase não sabia fazer nada. Depois nós homens somos umas bestas. Quando vemos uma mulher moça, viúva e relativamente bonita, não podemos admitir que ela possa viver sem macho...
Veiga falava sem olhar para o interlocutor.
- Ela começou a se pintar, vivia muito na rua, voltava acompanhada. Apareciam homens, minha mãe se fechava no quarto com eles. Deixavam tocos de cigarros, cuspiam no chão. Um deles um dia entrou bêbedo e quebrou um espelho. Um belo dia apareceu tio Candoca, possesso, chamou minha mãe de sem-vergonha, disse que ela estava manchando o nome da família, que fosse pro inferno. A coitada chorou, queixou-se. E um dia, você veja o absurdo, eu me vi em casa do querido tio Candoca. Eles me diziam: ”Sua mãe morreu, não pense nela”. E eu, seu Vasco, cresci na casa do tio Candoca. Na cozinha, com os criados...
Continuaram a caminhar. Era morno o vento que vinha do rio.
- Quando fiquei maior, fui compreendendo tudo. Tive vergonha de estar comendo as sopas do tio Candoca. Saí da casa dele, me empreguei, tirei os preparatórios... bom... isto não interessa, não é mesmo? O que fiz, o que vi, o que li... tudo se misturou com o correr do tempo. Andei atirado dum lado pra outro, adoeci, fui pra o hospital, estive uma semana na cadeia’... mas nada disso interessa. E também não interessa como vim a estudar Medicina, e a luta maluca que tenho todos os anos pra conseguir dinheiro pra matrícula... Todas as porcarias que tenho cometido com mulheres também não têm importância... Nem a minha tuberculose... porque você não pense que eu não sei. Eu sei. Só uma coisa agora importa, é o meu ódio. Ódio a essa sociedade podre, errada, malvada. Quantos homens por aí nas condições de meu pai? - Pegou com força do braço de Vasco. - E mulheres na situação da minha mãe? Me esqueci de dizer. A coitada já morreu. Morreu como morrem todas essas pobres mulheres da profissão dela. Agora você me diga... Elas têm culpa? Maleducadas, não sabendo nada... Os homens, uns bodes... A sociedade, errada, tudo errado... Acabam caindo no chiqueiro ... E o tio Candoca continua com o nome nos jornais, vai ainda ganhar estátua... E nós, que nos dizemos moços, ficamos de braços cruzados... Uns covardes é o que somos!
Estava excitado. Falava alto, quase aos berros. De repente serenou e prosseguiu:
- Em toda essa nojeira só havia uma criatura pura mesmo, pura apesar de tudo. Era a minha mãe. E o que me dói mais é saber que nunca, nunca mais vou encontrar ela pra pedir perdão... pra... pra fazer qualquer coisa de decente, já que o mal não tem remédio. Às vezes, pensando no que ela passou, no que sofreu, na imundície que jogaram em cima dela, sinto que posso ficar maluco... Não acredito noutra vida. Nunca mais vou encontrar minha mãe, isso eu sei...
com uma voz longínqua, como se viesse das estrelas, Vasco murmurou:
- Quem sabe?
No meio do grande nevoeiro do mar brilhava longe um farol. As ondas eram terríveis. Mas um dia o barco desarvorado havia de encontrar o sol. Quem sabe?
- Agora só uma coisa me traz de pé. O meu ódio. Vasco estava comovido. Ficou um instante em silêncio
e depois segurou o braço do companheiro. Não achou a palavra adequada para o momento. Continuou calado. Gervásio deu-lhe um empurrão.
- Tens pena de mim, não é? Pois eu não quero a tua piedade, não quero a piedade de ninguém. É dessa piedade burguesa que nasce a detestável caridade, a humilhante caridade. A caridade que faz que essas vacas gordas andem fundando creches e organizando chás de caridade, coisas que nada adiantam, que só servem para humilhar quem recebe o benefício. Não quero a tua caridade. O que eu quero é acabar com a raça dos Candocas!
Vasco enfiou as mãos nos bolsos e começou a assobiar, para disfarçar a comoção.
- Eu não compreendia a violência... - continuou Veiga. - Hoje não poderia viver senão pela violência, pelo ódio. Estou na luta. Não quero compaixão. Jogo com a única coisa que tenho de meu. O meu corpo, a minha vida.
- É uma espécie de suicídio.
- O suicídio pode ser também uma forma de vingança.
- Em que só o vingador sofre...
- Isso é o que você pensa.
As estrelas brilhavam. Uma chata singrava ô rio, vulto escuro e móvel, pontilhado de luzes amarelentas. De quando em quando ouvia-se na água o barulho mole e líquido produzido por um peixe que assomava à superfície.
Deram os dois rapazes vinte passos em silêncio.
- O comunismo não resolve nada, Veiga. Eu já me iludi...
O outro explicou:
- Que me importa o comunismo? Falei nele? Não falei. Ismos... Nomes... Sempre nomes... Sempre palavras... A técnica do tio Candoca . . . Remediar males graves com palavras. Bolas! Eu também não tenho nada a ver com o comunismo.
Gervásio cuspiu para o ar, como se quisesse atingir as estrelas, tão tranquilas e inacessíveis.
- Veiga, a diferença entre nós, a grande diferença é que você está cheio de ódio e eu não chego a odiar ninguém ...
- O ódio é a coisa mais bela do mundo.
Vasco viu então que Gervásio estava perdido para sempre. Mesmo que acabasse com a geração de tio Candoca. Mesmo que pudesse implantar uma nova ordem, seu ódio jamais se extinguiria. Ele continuaria lutando sempre e sempre, A sua ferida era de morte.
Caminharam calados por muito tempo.
Despediram-se a uma esquina. Eram companheiros de quarto. Iam decerto rever-se na manhã seguinte. Mas ao apertar a mão de Gervásio Veiga, Vasco teve a impressão de que dizia adeus para sempre.
Na sala de espera da Secretaria de Educação e Saúde Pública D. Clemência e Clarissa esperavam a sua vez. Havia ali mais três pessoas. Um homem gordo e inquieto, que com um número de ”A Federação” dobrado batia na guarda da poltrona e de quando em quando estralava a língua, dando um som à sua impaciência. Um sujeito de ar humilde, roupa surrada e expressão de cachorro faminto. E uma moça de grandes olhos brilhantes, fisionomia serena e com algo de esquisito no corpo, algo que (Clarissa viu logo) destoava da beleza harmoniosa do rosto.
Passavam os minutos. O homem impaciente foi até a janela, ficou olhando para fora (não via a paisagem mas sim os seus pensamentos, o seu ”caso”, o mais importante do mundo, o mais urgente) a sacudir a perna freneticamente.
O homem com ar de cachorro pobre de quando em quando mudava de posição, pigarreava e quedava-se a mirar com olhos mansos para o senhor impaciente.
A moça morena lia um livro. Clarissa esforçou-se por ver o título, furtivamente.
Houve um momento em que a desconhecida levantou a cabeça, descansou o livro nas coxas e então os olhos de ambas se encontraram.
A moça morena sorriu com simpatia. Clarissa sorriu também e sentiu - extraordinário! - que estava diante duma companheira velha, boa e compreensiva a quem num momento, num relâmpago, ela confiava sem querer todos os seus segredos.
Naquele instante, a porta abriu-se e um oficialde-gabinete apareceu. O homem gordo precipitou-se para ele, cumprimentou-o às pressas chamando-lhe doutor, tomou-o pelo braço e, sem lhe dar tempo para nada, arrastou-o açodadamente para um canto. Clarissa ouviu que ele principiava:
- Doutor, o meu caso é simples. Não vê que... O resto se diluiu num murmúrio abafado.
A moça morena e Clarissa olharam-se de novo e outra vez trocaram sorrisos. D. Clemência apertava a carta nos dedos e estudava as palavras que ia dizer.
Ouviu-se a voz do oficial-de-gabinete:
-... é, mas o Secretário não pode receber hoje. O senhor tenha a bondade...
O homem gordo, todo encurvado, torcia com intimidade o botão do casaco do funcionário, interrompendo-o:
- Não quero ser impertinente, mas, como lhe disse, o meu caso é muito simples. Eu só queria...
Despejou uma torrente rápida e confusa de palavras. O funcionário escutava com uma paciência heróica. Quando o homem gordo serenou, ele se voltou para as outras pessoas e disse, muito amável:
- As senhoras vão desculpar, mas o Secretário está numa conferência importante e hoje não poderá recebêlas ...
O homem humilde levantou-se. Fez um cumprimento tímido, pegou o chapéu e saiu devagarinho. O moço tinha dito: ”as senhoras”... Nem dera confiança para ele. Não fazia mal. Voltaria outro dia...
- Clemência se pôs de pé, indecisa.
- Eu trago uma carta do Dr. Penaforte para o doutor..,
Na confusão esqueceu o nome do Secretário. Mas o oficial-de-gabinete fez um aceno de cabeça, compreensivo.
- Se a senhora quiser deixar a carta, farei que ela chegue às mãos do Sr. Secretário. Poderão voltar daqui a dois dias para saber a resposta. Digamos... segunda-feira.
- Clemência consultou Clarissa com os olhos, hesitante por alguns segundos. Depois entregou a carta.
A moça de preto aproximou-se, desembaraçada, e apresentou também um envelope:
- Faça o favor... Volto na segunda-feira. Se o Secretário despachasse logo seria favor. É urgente.
Nas escadas, Clarissa e a mãe encontraram a desconhecida. Falaram-se ao pisarem o quarto degrau. Quando chegaram à rua já sabiam alguma coisa da desconhecida.
Era professora. Estava esperando um bebê e chamava-se Fernanda.
Aquilo não era verdade! não era verdade! não era verdade! Só acontecia nos sonhos bons, nos romances, ou nas suas descabeladas aventuras da imaginação. Vasco recusava-se a acreditar. Mas sentia nos braços, no torso nu e nas coxas e nas pernas nuas o contato ardente do sol. Olhava e não cansava de olhar...
Contra o céu dum azul quente e límpido recortava-se a vela branca do cutter; contra a vela branca, Anneliese, de maiô verde.
Incrível! Parece uma pintura que eu mesmo fiz sem medo de gastar tinta, sem preocupação de verossimilhança. Incrível. Ó Xexé! Ó João de Deus! Ó Clarissa! O Jovino. Vivos e defuntos! Vejam que coxas, que seios (Marvin caressa...) que narizinho engraçado e também que gostosas aquelas manchinhas de sardas que naquela noite ele não havia notado...
Deitado de costas no fundo do barco, com as pernas abertas, as mãos enlaçadas atrás da cabeça, Vasco olhava...
Protegendo os olhos com a mão espalmada, Anneliese olhava fixamente para a água. O vento agitava-lhe os cabelos dourados. Seus seios arfavam.
Sol no rio, sol nas montanhas, sol no céu. Longe, branquejavam outras velas: eram os cutters dos clubes de yachting. A água, que o vento chamalotava, tinha uma tonalidade foscamente oleosa. Aguapés soltos flutuavam, como pequenas ilhas verdes e lustrosas.
Vasco se ergueu, brusco. De pernas abertas procurou manter o equilíbrio. Pôs as mãos na cintura e olhou para o céu num desafio. Era a primeira viagem de Sindbad, o marítimo. Ia a bordo uma princesa loura. Ele se sentiu feliz e miserável. Miserável porque tinha de fazer alguma coisa, porque não podiam continuar simplesmente naquele silêncio. Lembrou-se dum velho poeta (lera-o à sombra da figueira, no pátio do casarão). Recitou em voz alta:
II fait dimanche sur Ia mer.
Anneliese soltou uma risada e deu uma tapa no ar num gesto de desprezo. Em duas passadas largas mudou-se para a popa, sentou-se e pegou do leme.
O Cutter chamava-se ”Fràulein”. O vento levava-o rumo da Lagoa dos Patos.
Agarrado ao mastro, Vasco olhou para a água e pensou em fugir. Se fossem para o mar, sem adeuses e sem bagagens, quase nus como estavam? Seria estupendo!
Anneliese cantava. Seu rosto tinha uma expressão divertida, como o duma rapariguita que estivesse observando as piruetas dum palhaço.
- Selvagem! - gritou.
Tinha procurado a palavra no dicionário. Mein Wilde! Não podia pensar noutra coisa diante daquele rapagão moreno de ar desconfiado, mãos enormes e cabelos caídos sobre os olhos.
- Mein selvagem! - repetiu. O vento roubou-lhe a voz: levou-a para longe.
Vasco acocorou-se no centro do barco e ficou olhando fixamente para a companheira.
Desejava-a. Sabia que havia de possui-la. Quanto a isso já não tinha a menor dúvida. Hoje, amanhã, depois - não importava o dia nem a hora, nem o lugar. O certo é que havia de amá-la, nem que fosse preciso recorrer à violência, transformar-se numa fera... Mas que diabo tinha ela que estava rindo? Por que o convidara para aquele passeio? Por quê? Era rica. Fora educada na Europa. Não sabia patavina de brasileiro. Decerto divertia-se. Como uma turista americana se diverte atirando moedas de níquel no meio das crianças chinesas. Para vê-las se agatanharem. Pura excentricidade. Um prazer meio perverso.
Tu me pagas. Tu me pagas. Pensas que sou teu palhaço?
Anneliese apontou... Vasco seguiu a direção do braço dela. Viu um bote pintado de zarcão, que passava a pequena distância do cutter. Um homem de chapéu de palha remava sentado no centro da embarcação. Na proa iam duas mulheres de guarda-sol aberto. Traziam cestos com grandes pêssegos, caquis e laranjas.
Anneliese largou o leme, ergueu-se e começou a fazer sinais frenéticos para o barco. Pulava. Apontava. Gritava. Sibilava.
Os tripulantes do bote olhavam rindo, mas sem compreender. Então Anneliese segurou o braço de Vasco e começou a sacudi-lo com fúria, ao mesmo tempo que apontava para os cestos de frutas.
- Come... eu... come... dá... Vasco compreendeu. Gritou:
- Ó moço! Nos atire umas frutas!
Anneliese, num movimento de leme, mudou de leve o rumo do cutter. Depois dum momento de hesitação, o homem do bote largou os remos e erguendo-se a meio corpo, jogou para o cutter caquis, pêssegos e laranjas.
Duas frutas caíram no rio. Vasco e Anneliese apanharam quatro no ar, ao passo que mais cinco caíam no interior do barco. Um caqui esborrachou-se contra a vela.
- Danke schõn! - gritou ela.
- Deus lhe pague! - berrou Vasco, erguendo o braço e sacudindo a mão no ar.
Naquele momento acreditava em Deus, acreditava nos barqueiros bondosos que passavam, acreditava em Anneliese, no sol, no céu, na impossibilidade de pintar aquele violeta tenuissimo da sombra da vela, no fundo do barco acreditava em tudo.
Comeram as frutas com sofreguidão. Paravam de quando em quando para rir um para o outro. Tinham os cantos da boca, o queixo e as mãos lambuzadas de pedaços de pêssego e de caqui.
O vento levava o cutter para as bandas do Itapoã. Passou por cima dele um bando de pássaros gritões. Uma lancha atravessou-se-lhe no caminho, rápida, com um ra-ta-tá f de metralhadora. Um homem louro e magro ia de pé na proa.
Acabaram-se as frutas. Muito sérios, Vasco e Anneliese ficaram a entreolhar-se. com a mão esquerda ela segurava o leme mas sem pensar num rumo certo. O sol ardia-lhe na pele. O vento lambia-lhes os corpos.
Vasco ajoelhou-se. Segurou os ombros da rapariga com as duas mãos e olhou-a nos olhos, bem dentro dos olhos. Eram azuis e não diziam nada. Ficaram assim alguns instantes. Ela ria baixinho. Ele começou a sentir, mais perturbador que o calor do sol, o calor que vinha dela. As coxas de ambos estavam quase coladas. Então, sem uma palavra, Vasco enlaçou Anneliese com os braços, puxou-a para si, numa ânsia mal contida, e beijou-lhe a. boca.
Depois o barco andou ao léu sem timoneiro. Quem o contemplasse das margens não veria os tripulantes. Dirse-ia um barco fantasma, levado pelo vento. E quem estivesse às margens do rio ou à borda das ilhas também não ouviria os murmúrios que saíam do navio perdido e se desfaziam no ar luminoso.
Muito mais tarde Anneliese ergueu-se, puxando de novo para os ombros queimados as alças do maio.
Vasco sentia vontade de chorar. Odiava-se por ser tão sentimental, por ter agora vontade de descansar a cabeça zonza no colo de Anneliese.
Que besta eu sou! E que feliz!
Anneliese de novo tomara o leme. Meteu a proa do ”Frãulein” rumo da Praia da Alegria. Num dos esteios do trapiche amarraram o cutter e depois arrearam.
Jogaram-se nágua. Como estava fresca! Nadaram alguns metros. Anneliese ria e soltava palavras que o companheiro não entendia. Vasco dava largas braçadas em silêncio. Queria enganar-se, sugestionar-se, convencer-se de que estava achando tudo aquilo muito natural, muito previsto. Deliciava-o e ao mesmo tempo assustava-o aquele mundo diferente do que conhecera em Jacarecanga. Um mundo de corpos nus - livre, sem preconceitos, natural e esportivo. O rio, aquela névoa azulada no ar, o sol, a praia clara com maiôs coloridos (outras mulheres! outras mulheres!), os bangalôs de telhado vermelho, os veleiros
- e Anneliese, aquela menina esbelta e loira que não falava a sua língua, que nascera e fora educada numa terra distante, numa terra onde pelo inverno havia neve a atulhar as ruas, a gelar os rios...
Pensou no seu bando, nas aventuras do passado. Era uma sensação estranha. Entrou-lhe água pela boca. Cuspiu-a fora, brusco, com uma careta de nojo. Anneliese ria...
Nadaram até encontrar pé. Depois, exaustos, como náufragos, chegaram à praia e ficaram estirados na areia, de costas, com os olhos fechados para o sol. Anneliese via nas pálpebras um campo de púrpura, com manchas verdes e arroxeadas. Vasco só enxergava as suas ideias turbulentas.
Gritos longe. Risadas. Depois o silêncio. E, no silêncio, a voz misteriosa do vento.
Quando na segunda-feira Clarissa e a mãe voltaram à Secretaria de Educação, encontraram lá de novo a moça morena. Cumprimentaram-na com alegria. Sentaram-se e começaram a conversar.
A sala de espera estava cheia de gente. Todos falavam a meio-tom, como se estivessem na igreja ou na câmara dum morto. Três professoras, que tinham nas mãos longos envelopes de oficio, falavam em cochichos pontilhados de risinhos, com as cabeças muito juntas, olhando de quando em quando para os lados.
Fernanda contemplava Clarissa com simpatia, fazialhe perguntas cheias dum afetuoso interesse. E D. Clemência surpreendia-se ao ver a filha quebrar a reserva e desatar a língua. Chegava até a sorrir. A própria Clarissa se desconhecia. Era engraçado. Aquela moça tinha uns olhos singulares, que inspiravam confiança, convidavam a gente a aproximar-se, a fazer confidências ...
- Se o Dr. Secretário despacha favorável - disse D. Clemência - nós ficamos em Porto Alegre; se não, temos de ir pra Santa Clara.
A última sílaba da palavra Clara foi engolida por um suspiro triste.
Fernanda sorriu:
- Mas o Secretário vai despachar favorável, tenho certeza. - Voltou-se para Clarissa. - Por que é que a gente sempre há de esperar o que é ruim, não é mesmo?
Bateu-lhe de leve nas costas das mãos. Clarissa estava dominada. Chegava a esquecer a expectativa ansiosa em que se encontrava; esquecia a transferência; esquecia o Secretário.
Por que será - perguntava-se a si mesma - que vivemos às vezes anos e anos com uma pessoa e nunca chegamos a ter com ela toda, toda a intimidade e no entanto um dia quando menos se espera, nos entregamos logo para uma desconhecida?
Fernanda também contava o seu caso:
- Daqui a três meses a criança vem. Tenho direito a uma licença. É do que estou tratando.
- Quantos anos faz que é casada?
- Anos? - Riu. - Sete meses.
- Imagine!
Entrou o homem gordo que da outra vez dissera que o seu caso era simples. Chegou afobado, cumprimentou com a cabeça e acercou-se da janela.
O oficial-de-gabinete apareceu. Fez sinal para uma das três professoras que cochichavam.
- A senhorita faça o favor.
Todos os olhos se voltaram para ela, como se acabassem de lhe conceder uma grande distinção. Ela ajeitou a blusa, o cabelo, sorriu para as amigas e entrou, fazendo um esforço muito grande para dominar o nervosismo.
- Clemência também ia se sentindo aos poucos conquistada por Fernanda. Tão conquistada, que sentia vontade de falar. Desatou numa conversa fútil e, quando Clarissa fazia pausas, ela contava coisas. Tinha uma irmã, chamava-se Eufrasina e era dona duma pensão.
- Por sinal nós moramos lá. Mas a senhora não faz ideia como é horrível morar em pensão, mesmo da irmã da gente. Não se tem sossego. Não se pode andar à vontade.
- Fernanda concordava, sacudindo a cabeça. - E, depois, há tantas pessoas que a gente não conhece... Tomam intimidade. Pois imagine que eu tenho um sobrinho... isto é: sobrinho ele não é; um primo do meu marido, já tem vinte e dois anos. Pois a senhora não há de ver? Um dos moços da pensão se passou com a Clarissa e o tal primo deu nele. Olhe, dona, foi um barulho... - D. Clemência meneou a cabeça. Clarissa ficou toda perturbada, por estarem falando em Vasco. - Não. Eu já disse pra Clarissa. Se ela arrumar transferência, temos que alugar uma casa. Ficar na pensão ... Deus me livre!
Fernanda sorria, compreensiva. E de repente lembrou-se:
- Olhe, a parte de cima da casa onde nós moramos está desocupada... Se a senhora quiser, eu peço a preferência ao dono...
- Não é muito caro?
- 130$000 por mês. Não é casa nova, está claro...
- Quantas peças?
- Dois quartos, sala de jantar, cozinha e banheiro... E tem também uma área.
- Clemência fez uma careta pessimista:
- Qual! Garanto que não se consegue a transferência ... - Suspirou. - Duns anos pra cá só tem nos acontecido o que é ruim.
- Ora, mamãe, que ideia!
- Não seja assim - censurou Fernanda. - A gente querendo, fazendo uma forcinha, consegue mudar um pouco a sorte. Nem que seja um tanto assim...
com o polegar afastado do indicador alguns centímetros, mostrou o tamanho da mudança.
- A senhora diz isso porque é moça. Quantos anos tem?
- Vinte e quatro.
- Não disse? Pois é. Pros moços tudo é mais fácil. Clarissa contemplava Fernanda. Tinha a impressão de
que a conhecia havia séculos, séculos...
- Oh - fez ela. - Mas se eu conseguir a transferência nós vamos ver a casa, não vamos, mamãe?
- Vamos. Outro suspiro.
Fernanda tirou da bolsa um lápis e um cartão e deulhes o endereço.
- Toma-se o bonde Floresta. Peçam ao motorneiro para parar nesta riia. Fica à direita de quem sobe para os Moinhos de Vento.
A cortina da porta agitou-se. A professora voltava. Veio toda alvorotada contar as novidades às companheiras.
Era a vez de Fernanda, que se ergueu e acompanhou o oficial-de-gabinete. Passados cinco minutos, voltou.
Aproximou-se de Clarissa e da mãe e disse:
- Tudo arranjado. Já tenho a minha licença. Clarissa estendeu-lhe a mão, contente. D. Clemência
respondia a um aceno do funcionário.
- Agora somos nós - disse. Despediram-se de Fernanda.
- Sejam felizes. Não se esqueçam que vamos ser vizinhas.
- Tomara! - exclamou Clarissa.
E, de novo apreensivas, seguiram o funcionário.
Na rua, Fernanda teve que parar de repente e apoiarse a um muro. Por um breve instante sentiu-se solta e desamparada no vácuo. Uma nuvem nos olhos. O mundo luminoso e sonoro empalideceu, quase chegou a sumir-se. Mas no instante seguinte a rua cheia de sol e de sons ressuscitava para a sua consciência.
Ali estava o parque com as árvores, o lago, as sombras verdes e frescas. Os trilhos faiscavam na claridade violenta. Passou um automóvel correndo e os seus vidros e metais relampejaram.
Fernanda continuou a andar. Passou o lenço pelo rosto. Ouviu um som prolongado e fanhoso de trompa. Um preto de gorro e avental branco emergiu do meio das árvores, empurrando uma carrocinha esmaltada de branco.
Sorvete! Sorvete! Fernanda teve desejo de comer um sorvete. Riu-se. Era infantil. Era tolo... Mas sentia vontade de comer sorvete.
Fez um sinal para o preto.
- De que é o sorvete?
- Tem de limão, de coco e de leite.
- Me dê um de limão.
Sentou-se no banco mais próximo, à sombra dum jacarandá. Começou a lamber o sorvete e a imaginar a cara que o marido havia de fazer se a visse ali como uma colegial que tivesse feito gazeta.
Fernanda sempre se rira dos desejos extravagantes das mulheres grávidas. Achava que seu caso havia de ser diferente, tinha de ser diferente. No entanto...
De onde estava sentada, observava o redondel do parque onde um homem e uma mulher posavam para o fotógrafo ambulante. Estavam de braços dados, ele arrumava a gravata, ela ajeitava o chapéu. O fotógrafo fazia sinais. O casal procurava uma posição: abraçados, de mãos dadas ou frente a frente? Por fim chegaram a um acordo: ela se apoiaria no ombro dele. Sorriam. Téc! O retrato estava tirado.
Fernanda achou graça. E se ela também se fotografasse? Havia de ter graça... Naquele estado!
Terminou o sorvete, esmagou nos dentes o copinho de massa e continuou a andar.
Tomou o primeiro bonde que passava rumo do centro da cidade.
Sentou-se ao lado dum preto, que cheirava a cachaça e a sarro de cigarro. Olhou em torno, desolada: não viu nenhum outro lugar desocupado. Resignou-se.
O bonde sacolejava. Fernanda sentia o bebê espernearlhe no ventre. Sorriu, feliz. E se perguntou a si mesma se a presença malcheirante do negro teria irritado seu filho. Não era de admirar: a criaturinha tinha o sangue de Noel.
Herdaria a sensibilidade do pai? Fernanda perdeu-se num devaneio de que o condutor veio despertá-la. Ela tirou um níquel da bolsa e pagou.
Pouco depois entrou no carro um garoto anunciando: Oia ”A Tarde!” Oia ”A Tarde!” Er.a o jornal onde Noel trabalhava.
- Sst! - fez ela.
Comprou um jornal. Pra quê? Lembrou-se de que Noel todos os dias levava um número para casa. Leu um título.
Bruno Hauptmann fora eletrocutado. O filho de Lindbergh. Rapto... Rapto... Rapto ... Era estranho, extraordinário. De alguma maneira ela também se sentia culpada do crime de rapto. Crime? Não seria crime... mas não deixava de ser rapto.
Noel tinha os cabelos louros como o filho de Lindbergh. Sim, ela, Fernanda tinha raptado Noel. E vivia com essa impressão de insegurança, esse temor (que sabia incoerente) de que viessem buscá-lo, levando-o de novo para a casa dos pais... Bobagem!
O negro tirou um cigarro, acendeu-o, soltou uma baforada que envolveu a cabeça de Fernanda. Na primeira esquina, porém, desceu. Fernanda respirou.
Tornou a pensar no marido. E uma dúvida levíssima, mas suficiente para deixá-la perturbada escureceu-lhe o rosto. Ela se lembrou da luta dos últimos tempos e se perguntou a si mesma se para Noel não teria sido melhor ficar solteiro na casa dos pais, com mesada certa, livre da necessidade de trabalhar e de qualquer outra responsabilidade. Claro que não! A confiança retornou instantaneamente e de novo Fernanda se sentiu feliz. Feliz porque tinha três meses de licença, três meses que dedicaria ao filho e ao marido. Feliz porque iam ganhar um bebê.
Olhou pela janela. Um guarda-civil na esquina. Um pensamento: Está presa em nome da lei, por ter raptado uma criança. E deixou a imaginação correr. Via-se no tribunal. O advogado da acusação falava em tom oratório, com muitos gestos, e muita retórica.
Senhores jurados! Contemplai essa infame raptora. Noel era feliz e despreocupado na casa dos pais. Eis que apareceu um dia, como a imagem negra da desgraça, essa mulher de maus sentimentos, (e Fernanda via claramente o advogado, o júri, o juiz: todos tinham caras familiares) e rapta o jovem Noel, arrebatando-o do carinhoso convívio de seus extremosos pais. (Extremosos? Quá-quá-quá!) Obriga-o, encoraja-o a um casamento que não era do gosto daqueles. Força-o a romper com a família, senhores jurados! E hoje a pobre criança se vê face a face com a mais dura realidade! A vida lhe oferece a fauce horrenda. Aluguel da casa, luz, conta do padeiro, do armazém. E o pobre rapaz se vê compelido a trabalhar! Está roçando os cotovelos na mesa duma redação de jornal, para ganhar o mísero ordenado de 300$000! Ele, um homem que tem um diploma! Ele, que, por meio dum casamento rico, poderia fazer carreira na política e na sociedade! Ele, que tinha um brilhante futuro pela frente! E, senhores jurados, quando nas conjunturas mais tristes e difíceis Noel pensa em se aproximar dos pais para lhes pedir auxílio, a mísera criatura que o raptou se opõe a isso! Em nome de Deus, da Pátria e da Família eu vos peço que a condeneis sem contemplação!
Sim, seria aquilo que o advogado da acusação havia de dizer. Não faria mais que dar voz à opinião de quase toda a gente. E Fernanda imaginou-se também a fazer, ela própria, a sua defesa. Disse apenas isso:
”Desde o tempo em que íamos para o colégio juntos, eu sempre puxei Noel pela mão. Ele cresceu e continuou sendo um menino mimado. Tirei-o de casa, afastei-o dos pais para fazer dele um homem.”
O bonde corria e trepidava. E Fernanda - mas aquilo era inexplicável, era tolo! - surpreendeu-se a chorar. Enxugou as lágrimas, contrafeita, e disse para consigo mesma: ”Devem ser nervos. Também, no meu estado...”
Chegou a casa às três horas. Noel ainda não voltara da redação.
Chegou meia hora depois. Vinha suado, cansado e um pouco triste. Beijou Fernanda.
- Como passaste o dia? Como te foste na Secretaria?
- Lindo. Já tenho a licença. Ele sorriu palidamente.
No desvão da porta apontou um vulto. Era a mãe de Fernanda. Noel teve uma sensação desagradável. Sempre tinha quando na presença da sogra. Apesar do convívio de sete meses ainda não se habituara àquela senhora sempre encurvada por baixo do xale (fizesse frio ou calor) arrastando os chinelos por toda a casa em caminhadas inúteis, resmungando, dando voz ao seu pessimismo, farejando desastres.
- Eudóxia olhou para o genro e ele viu nos olhos dela a mesma expressão de censura de todos os dias. No fundo, ela o culpava de todas as pequenas privações que passavam. Não eram ricos os pais dele? Então, por que ele não lhes pedia ajuda? Por quê? Não tinham necessidade de viver num regime de aperturas... Ela também não compreendia por que Fernanda, apesar das contas atrasadas, apesar do ordenado pequeno do marido, apesar do seu estado e da proximidade do parto - continuava a opor-se a que Noel pedisse dinheiro ao pai.
- Fernanda, eu quero um banho.
Ela se ergueu e foi arrumar a roupa do marido e levar toalha e sabonete para o quarto de banho.
Noel atirou-se numa cadeira, afrouxou o nó da gravata e desabotoou o colarinho. D. Eudóxia atravessou o compartimento e foi, resmungando, tirar de cima da mesa o chapéu que o rapaz ali pusera ao entrar. Era uma de suas implicâncias. Por que o genro não botava as coisas no lugar? Qual era a serventia dos cabides?
Noel se sentia um estranho em sua própria casa. Além da velha, existia o filho de dezessete anos, um menino impossível, com fumos de homem, bigodinho de galã de cinema, turbulento, vaidoso e ignorante. E a presença dele e a da mãe eram o bastante para criar uma atmosfera de mal-estar, estranheza e desconforto.
Fernanda anunciou da porta:
- Está pronto o banho, querido.
Debaixo do chuveiro Noel lembrou-se da sua manhã. Escrevera dois sueltos horríveis. Aborrecia o jornal. Fazia um esforço desesperado para sintonizar com os rapazes da redação. Inútil. Sentia a hostilidade surda e sorridente dos repórteres para quem ele era simplesmente o ”mocinho família” que tinha um diploma, que escrevia a crônica de arte, a resenha dos livros da semana; o mocinho que ficava à sombra de sua mesa, enquanto eles saíam para a vida, metiam-se em bibocas, reviravam os subúrbios, visitavam a chefatura e as delegacias à cata de desastres, crimes e outras reportagens sensacionais. Ele aborrecia os repórteres; mas era um aborrecimento tingido duma tímida admiração, uma quase inveja, a mesma inveja que o menino mimado tem do companheiro pobre que vive descalço, que é livre e sabe subir nas árvores, jogar o pião e brigar com coragem...
Os dedos miúdos e frios do chuveiro varriam aos poucos do corpo de Noel a sensação quente e pegajosa de cansaço.
com a toalha felpuda sobre os ombros ele se lembrou do quarto de banho da casa dos pais. Era de ladrilho colorido, tinha banheira embutida, aquecedor elétrico, um belo espelho com moldura niquelada, um armário com águasde-colônia e sais de banho. Noel contemplava agora com tristeza a cadeira velha sem guarda e sem uma das pernas; o banheiro de folha amassado na proa; o chão de tijolo.
Parecia incrível que ele estivesse numa nova vida, num outro mundo.
Lembrou-se dos tempos de solteiro. Tinha o seu quarto, a sua vitrola, os seus discos, os seus livros, a sua intimidade. Sofria porque acabara o curso de Direito e não achava jeito nem coragem para advogar. Sofria porque amava Fernanda, companheira de infância, e não tinha emprego com que sustentar uma casa. E, pior que tudo isso, havia aquela distância enorme a separá-lo da mãe, aquela estranheza entre ambos, aquele afastamento que cada vez se fazia maior. Ficava acanhado na presença dela. Queria amá-la, convencia-se de que tinha obrigação de querer-lhe bem. Era dos livros. Era das peças de teatro. Dos poemas. Dos preceitos religiosos. Via os outros filhos, as outras mães... Mas as outras mães em geral tinham cabelos grisalhos, caras bondosas e não sentiam vergonha de envelhecer. Ao passo que a sua se pintava, frequentava os institutos de beleza, tomava remédios para rejuvenescer e parecia odiálo; porque, tendo crescido, fazendo-se homem, ele como que estava ali para atestar a toda a gente que a mocidade dela tinha morrido...
Achava consolo nos livros, que o afastavam cada vez mais da vida. Havia, porém, instantes em que nem os livros nem os músicos lhe davam paz, bem-estar, felicidade. Então ele procurava Fernanda. A presença dela tinha uma qualidade sedativa. Sempre tão animada, tão corajosa...
Aquele otimismo era comunicativo. Sentados na escada da casa dela, Noel se esquecia de que a sua vida não tinha sentido. Amava Fernanda. Fernanda o amava. E de repente, um dia, pareceu-lhe que tudo se resolveria dum modo maravilhoso. Casariam e haviam de ser felizes.
Os pais, entretanto, se opuseram à ideia. A mãe lhe disse sem nenhuma delicadeza: ”Fernanda é uma menina de segunda classe”. Ele corara mas não tivera coragem de reagir. O pai coçava a cabeça, tinha pena do rapaz, mas receava contrariar a mulher, a quem obedecia com cegueira. Seguiram-se dias de indecisão. Os mais terríveis de sua vida. Os mais escuros.
Lembrava-se do casamento, muito modesto, sem convidados. Fernanda pusera um vestido simples, e enfiara uma boina na cabeça. Nada de festa. Ao saírem da igreja ele sentiu uma coisa indescritível. Um medo cheio de felicidade. Uma ânsia... Entrava na vida nova. Separado dos pais. Parecia mentira. Separado! Era uma experiência terrível. Ele se admirava de ter ousado tanto. Mas devera tudo a Fernanda, tudo. Ela o arrastara. Ela lhe arranjara emprego no jornal. com o que ganhava como professora podiam ir vivendo, à espera de melhores dias. Ela dizia sempre: ”Tudo vai melhorar, espere só”. Falava com uma convicção, com uma coragem...
Seguiram-se semanas de felicidade, de revelações, de surpresas e expectativas. Tudo o mais - D. Eudóxia, Pedrinho, a casa modesta - tudo se esfumou num último plano quase inexistente. Ele só via Fernanda, só queria Fernanda. Era um refúgio. Um refrigério. Uma companhia. Um amparo.
Mas depois, com o correr dos dias, as figuras de último plano foram emergindo, crescendo... D. Eudóxia escarrava pelos cantos; resmungava; previa desastres; comia sem compostura; conversava assuntos sujos à hora das -refeições. Pedrinho era insuportável com suas conversas tolas, a sua vaidade, os seus perfumes baratos e as suas gravatas berrantes.
Noel começou a confundir os planos e a sentir-se menos feliz. Vieram as primeiras dificuldades. Contas. Despesas imprevistas. Pequenos vexames. Inadaptação ao trabalho. Saudade da sua tranquilidade, das horas de silêncio em que podia ouvir Debussy (Pedrinho trouxera discos humorísticos horrendos: Chevalier de Cascadura, Baile na Roça). Saudade da sua melancólica liberdade de solteiro. Saudade de si mesmo, do seu eu antigo e feliz. E o mais aflitivo era que continuava a amar Fernanda.
Quando percebeu que ela estava grávida, sentiu um calafrio. Era outra experiência nova. Ia ser pai. Ia ter um filho com o seu sangue, com o sangue de Fernanda. Que profundo mistério! Ter um prolongamento. Um continuador. A criança talvez viesse dar-lhe a sensação definitiva de que ele, Noel, era realmente humano. Passou a sentirse mais confortado. Mas era um conforto cortado de dúvidas e sustos. E os seus dias rolaram, crivados de pequenos conflitos, de pequenas dificuldades, mas visitados também por breves instantes de felicidade.
Havia períodos que se escoavam mais depressa. Quando lia algum romance interessante, como que passava a viver numa outra dimensão. Ficava mergulhado na poltrona, com o livro na mão. E Fernanda, como um cão fiel, velava pela sua tranquilidade. Trazia-lhe café. Pedia silêncio quando alguém falava alto ou ameaçava quebrar a paz da casa. Escondia de Noel tudo quanto lhe pudesse causar contrariedade. Não contava que o verdureiro reclamava o pagamento da conta, que a Cia. de Energia Elétrica mandara um aviso ameaçando cortar a luz caso a última conta não fosse paga. Queria pôr o marido em contato com a realidade mas não de repente, bruscamente. A descida tinha de ser gradual, suave.
Noel vestiu-se e saiu do quarto de banho com uma sensação de frescura.
Na varanda Fernanda lia o jornal da tarde.
- Viste a notícia da greve nos Navegantes? Fernanda ergueu os olhos.
- Vi. Quem é esse Gervásio Veiga que a polícia anda procurando?
- Um estudante de Medicina. Um maluco.
Fernanda sorriu em silêncio. Noel acercou-se da janela. De onde estava via as torres da igreja metodista, erguendo-se acima da massa de arvoredo dum jardim.
- Que foi que ele fez?
Noel respondeu sem voltar a cabeça:
- Andou fazendo discursos, distribuindo boletins, incitando os operários a uma greve.
Silêncio. Noel olhava a rua. Lá na esquina vinha um vulto que lhe era familiar: um homem alto de preto. Era o Rev. Bell, pastor protestante, que o viu de longe e tirou o chapéu num largo cumprimento. Noel respondeu com um aceno de cabeça.
O vulto escuro entrou no jardim, sumiu-se em meio das árvores.
Feliz! - pensou Noel. - Sem ambições, sem inquietações. Tem o seu Deus, a sua fé e acha que a sua missão na terra é arrebanhar ovelhas para a Escola Dominical. Feliz!
Voltou-se e olhou para a mulher. com um braço caído por cima do braço da cadeira, a cabeça recostada no respaldo, Fernanda descansava, de olhos cerrados.
- Cansada? - perguntou ele.
Aproximou-se dela e beijou-lhe a testa. Fernanda tomou-lhe da mão e apertou-a em silêncio. Noel olhou para o ventre túmido da esposa. Naquele momento sentiu que ele fremia, sacudido transversalmente por um movimento de onda. Teve um desfalecimento. Alguma coisa se mexia ali dentro, com vida. Uma vida que ainda era parte da vida de Fernanda. E que continuaria a ser, mesmo depois que a criança nascesse e se soltasse no mundo...
Quis dizer alguma coisa mas a comoção não permitiu.
Abraçou a mulher. O fantasma da sogra apareceu numa porta. Noel ergueu-se quase brusco, como um sonhador que um ruído desperta de repente.
Vasco gemia, baixinho, deitado de borco na cama. Tinha febre alta. Ardiam-lhe terrivelmente as costas. com um chumaço de algodão D. Zina passava-lhe talco pelos braços, pelos ombros, pelo torso.
- Também a ideia desse menino! - exclamava num tom de repreensão. - Ficar sem camisa no sol o dia inteiro.
É preciso ir se acostumando aos poucos... Ora já se viu? Que coisa horrorosa.
Vasco pensava em Anneliese. Misturava-a aos pensamentos confusos da sua febre. Tornava a desejá-la e odiava-a ao mesmo tempo. Pediu água. Bebeu. Às dez da noite a febre declinou. Clarissa e a mãe apareceram no quarto.
- Clemência sacudia a cabeça com ar de censura. Clarissa estava silenciosa, sofria. Aquelas ausências demoradas de Vasco lhe causavam ciúme. Onde tinha ele passado todo o domingo? Decerto com alguma namorada, na praia...
- Mas onde foi que tu arranjaste essas queimaduras,
rapaz?
- No Guaíba - respondeu ele, evasivo. E mudou de assunto. - Falaram com o Secretário?
- Falamos.
- E que tal?
- Nos recebeu muito bem e disse que ia se interessar ...
Clarissa completou:
-... que eu fizesse requerimento pedindo a transferência e esperasse o despacho no ”Diário Oficial”.
- Ahan - respondeu Vasco. - Pode ser...
Mais tarde um pouco, depois que as mulheres se retiraram, apareceu o conde. Vasco, que estava deitado de costas, sentiu logo a presença dele, pois no momento em que Oskar entrou, o seu doce perfume se espraiou no quarto.
- Dá licença?
- Entre, conde.
Oskar sentou-se ao pé da cama. Trazia um livro. Mostrou-o a Vasco.
- Conhece?
O outro espremeu os olhos e leu o título.
- Conheço.
- Já leu? -Já.
- Pois permita que lhe diga que não aproveitou... Vasco sorriu. O conde ajeitou o lenço de seda no bolso
do coração. Depois, ajustando o monóculo no olho esquerdo, abriu o volume no lugar marcado com uma fita de papel, e disse:
- Escute... Leu:
”En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo; e así como don Quijote los vió, dijo a su escudero:
”- La ventura vá guiando nuestras cosas mejor de Io que acertáramos a desear; porque vês alli, amigo Sancho Panza, donde se descubre treinta o poços más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos Ias vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que esta es buena guerra, y es gran servido de Dios quitar tan mala simiente de sobre Ia faz de Ia tierra.”
Leu mais algumas linhas com a sua voz suave. Depois, deu ênfase à seguinte passagem:
’T endiciendo esto, y encomendándole de todo corazón a sua senora Dulcinea, pidiendole que en tal trance una lanzada en el aspa, Ia volvia el viento com tanta fúria que hizo de Ia lanza pedazos, llevandose trás de si ai cabailo e ai caballero, que fué rodando mui mal trecho por el campo.”
lê socorriese, bien cubierto de su rodela, con Ia lanza en ristre - arremetia a todo el galope de Rocinante, e embistió con el primer molino que estava delante, y dandole
Fez uma pausa. Fechou o livro, olhou para Vasco e depois disse tranquilamente:
- O meu jovem amigo precisa ler outra vez esta história.
Vasco ficou um instante calado, o ar vago. Depois compreendeu.
O austríaco se referia à briga do refeitório. Tinha sido uma quixotada. Tinha...
Estendeu o braço, pegou o livro sem rancor.
- Obrigado. vou ler.
Mas deu um pulo na cama.
- Ora, conde! Quem é que não banca o Quixote uma vez na vida? - Fez um gesto mais largo. Soltou um gemido: a coberta da cama roçara-lhe nas costas queimadas. - Ui! Você também decerto já embistio contra moinhos.
O conde acariciou o bigode, sorrindo. Depois, cruzando as pernas e limpando o monóculo com o lenço, contou:
- Olhe! Nós tínhamos dezoito anos... - Interrompeu-se para bafejar o vidro. Vasco aproveitou a pausa:
- Nós quem?
- Éramos alguns estudantes de famílias ricas na Áustria ...
- Ah!
- Tínhamos dezoito anos - continuou Oskar - e nos julgávamos os homens mais civilizados da Europa. Superiores ... Líamos e recitávamos Goethe... Falávamos em ”barbárie”. Viena era nossa. - Ficou em silêncio, com o ar de quem se lembra com saudade. - Vieram rumores de guera e nós uma noite numa mesa de café-concérto juramos não nos deixar arastar, se viesse a guera...
Pausa. O conde enfiou o lenço no bolso. Um rato passou correndo por baixo da cama de Vasco e embarafustou para o corredor. Amaro entrou no quarto sem ruído e perguntou:
- Como vai?
E como se tivesse cumprido uma obrigação penosa, sem mesmo prestar atenção no que Vasco respondera, murmurou um pedido de desculpas e se retirou sem mais palavras. O conde aproveitara a pausa para voltar em pensamento à sua velha cidade. Vasco esperava.
- E depois?
- Ah! Veio a guera. Apareceram uns campónios austríacos beiçudos, metidos em fardamentos coloridos e sopraram em instrumentos de metal uma marcha patriótica escrita possivelmente por um sargento. Sabe o resultado? Os moços civilizados que liam Goethe perderam a cabeça, entusiasmaram-se e foram matar... Muitos moreram... Outros voltaram mutilados de corpo ou de espírito... Pausa. - Foi a minha última investida contra os moinhos ...
- É sempre assim... - murmurava Vasco. - Sempre assim.
O conde tinha um ar reflexivo.
- Sabe duma cosa? Estive pensando... Talvez a felicidade esteja em a gente saber, quando está na frente dum moinho, que aquilo é um moinho e não um gigante... Saber dar o verdadeiro nome às cosas. . . Assim há menos perigo ... compreende?
Vasco brincava pensativo com a ponta do lençol. Pensava em Anneliese. Ele se vira no barco diante duma mulher e soubera todo o tempo que estava nada mais nada menos que diante duma mulher. Teve vontade de contar tudo ao conde. Mas conteve-se.
- Tem visto Anneliese?
- Tenho. Foi no cutter dela que eu me queimei deste jeito. Quer ver? - perguntou, para desviar a conversa.
Puxou a coberta, ergueu o casaco do pijama. O conde aproximou-se da cama e olhou.
- bom. Espero que a queimadura tenha sido só superficial.
Sorriu enigmaticamente.
Foi embora às onze horas. Mas o seu perfume ficou ainda por algum tempo no ar. Vasco sentiu a solidão. Silêncio na casa. Abriu o livro. Leu umas palavras... Fechou-o, aborrecido. Olhou para a cama de Gervásio. Fazia dois dias que o rapaz não aparecia. Diziam que a polícia andava à sua procura. No entanto ali estava a mala dele, com as roupas, os papéis . .. Pobre criatura!
Estendendo o braço, Vasco apagou a luz. O luar saltou para dentro do quarto. E com ele a lembrança da alemãzinha.
A chuva deixava aquela gente cinzenta e amolecida. Era um aguaceiro furioso de verão. Tio Couto estava sombrio, pois aparecera um investigador da polícia perguntando por Gervásio. Clarissa, com olhos muito ansiosos, lia o ”Diário Oficial” da primeira à última linha, a ver se descobria o despacho de seu requerimento. D. Clemência costurava de rosto sombrio: nunca sentira tanta saudade do marido como naquele dia. Fevereiro findava. Ia entrar mais um mês e, se não conseguissem antes de março a transferência de Clarissa, teriam de ir para Santa Clara...
Amaro da sua janela espiava a chuva que caía no quintal, amolecendo a terra, sacudindo as folhagens, fazendo o tanque transbordar. Pagara naquele dia o seu mês de pensão. O dinheiro que ainda tinha guardado, mal chegaria para outro mês... Era preciso agir, fazer alguma coisa. O remédio era procurar um quarto barato, aí duns quarenta ou sessenta mil-réis, e comer de fora, uma vez por dia. Pelo menos até melhorar a situação.
Olhava para fora. E a paisagem cinzenta sob a chuva lhe dava uma fria sensação de abandono. Nunca como agora sentira a falta duma casa, do calor dum fogo, da presença dum amigo. Começou á caminhar à toa no quarto. Ouviu um ruído no corredor. Podia ser ela... Foi espiar pela fresta da porta, muito perturbado. Não era. Continuou a andar. E de repente teve a impressão de que as paredes do quarto se alargavam e, brancas como eram, davam a impressão dum deserto gelado. Ele estava perdido nesse deserto, sem amigos e sem esperança. Sentou-se ao piano e tocou com frenesi a polonaise de Chopin. Sentiu-se mais confortado. O quarto voltava às dimensões normais e ele já se sentia menos só. Retornou à janela. Sempre a chuva. Voltou-lhe a sensação de desalento. Sentiu saudade de Clarissa. Desceu. Encontrou-a na sala de jantar, perto da mesa maior. Lá estavam também D. Clemência e tio Couto. Amaro ficou muito perturbado. Sorriu com constrangimento e, para disfarçar, pegou um copo, encheu-o dágua e bebeu, sem nenhuma vontade. Depois tornou a subir para o quarto.
Vasco estava desinquieto, sentindo uma nostalgia de prisioneiro. Aquele silêncio e aquela chuva obrigavam-no a pensar em coisas desagradáveis. Ele assobiava, batia com o pé, folheava livros, rabiscava caricaturas num papel. . . Inútil.
Lá vinha à sua mente a imagem de Anneliese. E ele era orgulhoso demais para aceitar, mesmo intimamente, a certeza de que a amava. Amava? Sabia lá! Desejava-a, tinha saudade da voz dela, do corpo dela, daqueles braços longos, daqueles lábios, daquele narizinho redondo. ..
Sentava-se, passava a mão pelos cabelos. Tinha vindo para mudar de vida. Tinha vindo para trabalhar. Que fizera até agora? Nada. Portara-se como uma criança. D. Clemência e Clarissa podiam contar com ele? Não podiam. Era um estabanado. Um irrefletido. Uma besta.
Quem tinha razão era João de Deus. Eu digo pra vocês, esse menino não presta! Ruim como o pai. Filho de tigre sai pintado. É o boi-cometa da família.
Mas tudo era por causa daquela chuva. Se viesse o sol, tudo mudava. Ele sairia a procurar trabalho. Poderia passar sem Anneliese. Havia tantas mulheres no mundo...
Abriu um jornal. Estava cheio de notícias de desastres. Telegramas alarmantes da Europa. Boatos de guerra. Desastres. Fraudes. Crimes.
O mundo estava mesmo doido. E era nesse mundo incerto e perigoso que ele tinha de abrir caminho. A aventura o seduzia. Mas aquela chuva deixava-o mole.
Ao anoitecer vestiu o impermeável, enfiou o chapéu e saiu. A chuva continuava.
Estavam todos na sala de jantar. Fernanda fazia um casaco de tricô para o filho. Noel, sentado à mesa, escrevia numa Royal portátil o quinto capítulo de seu romance. D. Eudóxia folheava revistas velhas. Pedrinho, na frente do espelho do quarto, arrumava a gravata, assobiando.
- Aonde vais, menino? - perguntou-lhe a mãe. - vou ver a pequena.
Voltou para os outros uma cara insolente, de olhos muito vivos. Deu um salto para o lado e acendeu o rádio. (Por que não vendem o rádio? - dissera um dia D. Eudóxia. - Rádio é luxo.) Continuou a arrumar a gravata. Depois tirou do bolso de dentro do casaco um pente e passou-o com cuidado nos cabelos. A música duma rumba inundou a sala, abafando o ruído chiante da chuva. Noel fez uma careta de desagrado e parou de escrever.
Fernanda olhou para o marido. Ele estava silencioso, de braços cruzados. Era o seu protesto contra a rumba, contra o barulho importuno. Era o seu protesto mudo contra Pedrinho, enfim, contra o outro mundo, o real, o que existia fora de seu romance, fora de seus pensamentos, de seus desejos.
Fernanda compreendeu, levantou-se e apagou o rádio.
- Ora, mana! Estava tão boa a rumba... Vestiu o capote.
- Bote o chapéu velho - recomendou Fernanda. Está chovendo.
Por implicância ele apanhou do cabide o novo. Bolas! Estava homem. Ninguém mandava mais nele. Pensavam que ele ia ser eternamente criança? Pois sim... Quebrou a aba do chapéu, puxou-a para cima dos olhos, disse: ”Ciao, pessoal” e saiu, batendo com a porta. D. Eudóxia ficou sacudindo a cabeça.
- Não vais escrever mais? - perguntou Fernanda. Noel fez um gesto vago. Ergueu o papel e leu o que
havia escrito. Achou fraco. O seu romance era um fracasso!
Fernanda levantou-se, aproximou-se do marido, pelas costas, segurou-lhe os ombros com ambas as mãos, inclinou-se e leu.
- Mas está esplêndido!
- Tu sabes que não está. Dizes isto pra me entusiasmar ...
Sim. Ela o incitava. Queria que ele escrevesse um romance. Ele achara a ideia tentadora. O difícil era o tema. Todos os contos que escrevera sempre acabavam resvalando para o fantástico, para o irreal. Suas personagens eram inverossímeis. Seus diálogos, literários. Suas situações, falsas. Pensara primeiro em escrever a história dum homem do século xx que se via de repente projetado em pleno país das fadas. Fernanda reprovara a ideia. Era fraca - dizia - era falsa e rebuscada. Ele tinha que tomar um tema da vida e fazer um romance com o mínimo de literatura e o máximo de verossimilhança. Deu-lhe a sugestão: a história simplíssima dum pobre homem que ela conhecera. Chamava-se João Benévolo, tinha mulher e filho, perdera o emprego, era um sujeito tímido e sem vontade. Um homem remediado frequentava a sua casa, procurando conquistar-lhe a mulher. O romance seria em torno das peripécias de João Benévolo na sua cidade, em busca dum emprego.
com muita relutância Noel aceitara o tema. E, ao tentar desenvolvê-lo a todo o instante, enveredava para o irreal, para o reino do maravilhoso.
Achava-se agora empacado no quinto capítulo.
- Não sei para onde vou mandar o meu herói... disse com um falso sorriso.
Fernanda pensava...
- Bote João Benévolo num banco da praça, conversando com os desempregados . ..
- Falando em quê?
- Não rebusque. Invente um diálogo simples.
- Podiam falar sobre um cartaz de cinema...
- Acho que não. Melhor uma conversa sobre o tempo...
- Eudóxia os mirava com o rabo dos olhos e o seu ar, entre penalizado e irritado, parecia dizer: Estão doidos, doidos varridos!
Naquela noite Vasco encontrou Anneliese na mesma casa de chá em que a conhecera. Arrastou-a para fora. Saíram os dois a caminhar na garoa. Iam de passo certo. A rua, com os seus anúncios luminosos - verde, azul, solferino, vermelho, amarelo e violeta - tinha uma beleza vagamente mágica. As calçadas molhadas estavam reluzentes e nelas se refletiam as luzes coloridas. À frente dum restaurante lia-se um letreiro luminoso encarnado: o seu reflexo embaixo parecia uma larga mancha de sangue.
Anneliese e Vasco seguiam de braços dados. Ele sentia o cheiro do impermeável dela: um cheiro doce de fruta madura. Vasco estava feliz porque se esquecia de tudo que não pertencesse àquele momento singular. Gostava de caminhar na chuva. Era bom sentir no rosto a frescura das gotas...
Paravam à frente de vitrinas. Olhavam, às vezes sem ver. Depois continuavam. Anneliese cantarolava. Vasco ia silencioso. Passavam homens debaixo de guarda-chuvas. O clarão das vitrinas. Espelhos. Portas de cafés: formigamento lá dentro, zunzum de vozes.
Se nós nos falássemos, nos entendêssemos, isto não seria tão bom - pensava Vasco. Anneliese sabia poucas palavras em português: bom - bonito - vamos - venha – não - sim - meu casa - selvagem -já.
Passaram por uma casa que tinha um letreiro luminoso azul contra fundo negro: Paris Modes. Foi então que Vasco se lembrou de que, tendo sido educada na Europa, Anneliese forçosamente sabia falar francês. Teve curiosidade de experimentar. Engatilhou uma frase. Quando ia disparar imaginou todo aquele encanto quebrado. Viriam as palavras para atrapalhar. Era melhor continuar como estavam. O doce silêncio. Os gestos. Os lábios tinham mais eloquência beijando do que falando.
Anneliese de quando em quando mirava o companheiro. Vasco também voltava a cabeça e sorria. O rosto dela estava belo e apetitoso por baixo do capuz de borracha cor de oliva. E que graça lhe davam aqueles respingos de chuva na ponta do nariz, nas faces, no queixo... com o braço, Vasco apertou o braço dela contra o seu corpo.
Ela estendeu a mão para mostrar a chuva; depois com o polegar da mesma mão bateu três vezes no peito e disse:
- Anneliese gosta. Vasco sacudiu a cabeça.
- Já. Eu gosto também. E repetiu o gesto.
A chuva apertou. Entraram num bar. Pediram coquetéis. Beberam. Ficaram a contemplar-se por algum tempo. Ele sentia uma tontura agradável, morna. Começou a desejar Anneliese. Ela sorria. Olhou o relógio de pulseira.
- Meu casa. Já. - Fez um sinal para o garçon Ober!
Tirou uma cédula da bolsa e pagou. Vasco ficou vermelho e imóvel e começou a assobiar. Tinha saído sem dinheiro.
Tomaram um bonde no abrigo da Praça 15. Anneliese Pagou as passagens. Vasco começou a ficar inquieto.
Cantou-lhe na cabeça a melodia dum fox que ele ouvira muitas vezes num café de Jacarecanga. Bing Crosby com a sua voz macia e funda: Just a gigolô, everywhere I go... E não se pôde livrar da melodia durante todo o trajeto.
Anneliese apertou a campainha. Desceram. Caminharam uns cem passos.
- Aqui - disse ela.
Mostrou uma casa. Um grande portão de ferro. Abriuo. Vasco estendeu a mão para se despedir.
- Non - Anneliese sacudia a cabeça. - Entra.
Ele ficou atarantado. Era meia-noite. Mostrou-lhe o relógio. Mas ela insistiu. Vasco lembrou-se duma frase de alemão, a única que sabia:
- Du bist verrúckt! Du bist verrúckt!
Ela ria e puxava-o pela mão. Ele se deixou levar. Caminharam por um grande parque com vastos tabuleiros de relva, pinheiros e uma aléia de palmeiras reais. Anneliese ia na frente. Perlongavam a aléia de postes com lâmpadas esféricas de vidro fosco. Vasco inflava as narinas, sentindo um aroma de ervas úmidas.
No fundo do parque erguia-se uma grande casa em estilo alemão: torreão com cata-vento, venezianas verdes, trepadeiras no alpendre. Pararam. Ele contemplou a casa. Não via nenhuma janela iluminada. A chuva caía fina. O telhado luzia. Por cirna dele o céu era duma cor carregada de ardósia. Vasco olhou em torno. com exceção da aléia, o parque estava todo sombrio.
Anneliese fez um sinal e caminhou para a ala esquerda do edifício. Ele a seguiu, numa ansiosa e agradável expectativa. Contornaram a casa. A rapariga aproximou-se duma das portas dos fundos, tirou uma chave do bolso e meteu-a na fechadura. Erguendo a cabeça, Vasco viu luz nas janelas do andar superior.
Diabo, diabo, diabo...
Já Anneliese, tendo aberto a porta, acendia a luz dum pequeno vestíbulo e acenava lá de dentro para o companheiro.
Vasco entrou. A moça fechou a porta. Subiram por uma escada e de repente ele se achou num hall. Sentiu um cheiro que nunca tinha sentido em casa nenhuma. Não era um cheiro nacional. Era cheiro de casa alemã (sorriu à ideia) - um cheiro mais civilizado, frio, limpo, esquisito...
Outra escada. Depois um corredor muito branco, com um trilho de linóleo. Ao fundo, uma porta esmaltada cor de pérola.
Tonto, Vasco entrou de repente no quarto de Anneliese.
Depois de acender a luz, muito desembaraçada, ela tirou o impermeável, o chapéu e as botas.
Vasco olhava, indeciso. A mobília também era esmaltada e cor de pérola. Quadros nas paredes: aquarelas. Alguns retratos. Uma escrivaninha. Uma prateleira com livros. A cama com cobertas claras e finas. Tapetes fofos no chão.
Ele se sentia bruto e selvagem no meio de tudo aquilo. Como um touro numa loja de louças. Se não tivesse cuidado, se não tivesse compostura, podia quebrar os móveis, embarrar os tapetes, sujar as paredes, ferir as crianças. Sim um touro...
Anneliese aproximou-se dele, desabotoou-lhe o impermeável, tirou-lhe o chapéu das mãos.
Depois, segurando-lhe do braço, disse:
- Chá fólta.
E se sumiu no quarto contíguo. Vasco sentou-se numa poltrona estofada, recostando a cabeça no espaldar. Sobre a mesinha da cabeceira de Anneliese havia um retrato: a cabeça dum rapaz de cabelos crespos e claros, duma beleza de Siegfried. O retrato tinha uma dedicatória em alemão e trazia bem embaixo uma data não muito antiga, e o nome duma cidade: Berlim. Namorado... Decerto era namorado. Ou noivo... Essas alemãzinhas modernas...
Vasco contemplou o retrato quase com rancor. Não pôde evitar uma sensação de ciúme...
Foi examinar os livros. Tudo em alemão. Passou para os quadros da parede. Num deles (fotografia duma nitidez espantosa) Anneliese ria entre cinco rapagões. O retrato no quadro seguinte mostrava Anneliese com esquis no meio da neve. Depois, Anneliese num bote (decerto era verão, o céu claro); e ela estava vestida de branco, com um grande pára-sol, sentada na proa, enquanto um sujeito de calças brancas e em mangas de camisa, remava...
Vasco apanhou distraído uma revista de capa colorida.
Eram prospectos das Olimpíadas de Berlim. Suspirou. Berlim ... Folheou a revista. Vistas de Colónia, de Francforte, de cidades das margens do Reno... Tudo aquilo pertencia a um mundo sonhado mas nunca visto. Anneliese pertencia a esse mundo: e sua figura esbelta, a sua cara branca, os seus cabelos louros eram produto daquela paisagem fria, daquela terra onde caía neve no inverno...
Vasco sentiu-se estrangeiro. Trazia ainda o ranço de Jacarecanga. Era um provinciano que nunca tinha viajado. Um brutamontes, um...
Alçou os olhos ao ouvir um estalido. Anneliese voltava. Vinha metida num pijama preto de seda, com curiosos desenhos em vermelho. Vasco contemplou-a, maravilhado. Ela estava linda, linda! Fizera um penteado diferente, puxara os cabelos bem para trás. Parecia uma pintura. O vulto negro destacava-se nítido no quarto de tons suaves. Vasco de repente se sentiu inferior, muito inferior... E essa sensação lhe deu um desejo de ser bruto, de começar a quebrar os móveis, os vidros, a rasgar os retratos... Um touro.
Anneliese aproximou-se muito serena e sentou-se nos joelhos de Vasco. O seu perfume o envolveu. Ele a abraçou e beijou numa fúria comovida. Era boa a maciez da seda, bom o roçar daquele cabelo liso no rosto dele, bom o contato da ponta daquele narizinho frio nas suas faces ardentes.
Vasco esqueceu a sua inferioridade, esqueceu tudo. Que importava que antes dele Anneliese tivesse conhecido outros? Que importava se no fundo ela estivesse apenas se divertindo com ele e achando-o um matuto? Não importava também que amanhã ela fosse embora para nunca mais voltar... Aquela hora era boa e ele ia aproveitá-la. Pensou no pai. Quem não tem vergonha, todo o mundo é seu.
Ergueu-se com Anneliese nos braços e caminhou para aquele ponto macio e claro que, dentro do quarto, era o foco da sua atenção, a única coisa que, fora do corpo de Anneliese e do seu desejo, tinha naquele minuto uma existência real.
Saiu daquela casa de madrugada. O ar estava quase frio e o céu limpo. As estrelas, que brilhavam com um brilho novo e fresco, pareciam ainda molhadas da chuva.
O parque estava deserto e quieto. No meio das palmeiras reais ainda gotejantes, Vasco sentiu-se só.
Parou ainda uma vez para se voltar e olhar a grande casa adormecida. O torreão recortava-se agora contra um céu muito claro e estrelado.
Tudo era tão imprevisto, tão novo... Vasco ainda trazia consigo o perfume daquela mulher, daquela casa, daquele mundo.
Sentiu-se um traidor. Traía seu clã, o seu bando. O que fizera de alguma forma era traição ao espírito de seu grupo, da sua gente. Lembrou-se de Xexé morto e enterrado no cemitério de Jacarecanga. Lembrou-se de João de Deus. De Clarissa e da mãe - daquelas duas criaturas que dependiam dele, que estavam na cidade estranha, confiadas no seu apoio. Sim, era um traidor.
Continuou a andar. As estrelas se refletiam nas poças dágua que a chuva deixara na estrada de areão.
Olhou para a lua. Velha conhecida! A mesma de Jacarecanga. A mesma de suas antigas vagabundagens noturnas.
Passou o portão e seguiu rua abaixo.
Naquela tarde tio Couto chegou a casa acenando com um jornal.
- Boas notícias! - exclamava. - Boas notícias!
- Zína botou a mão no peito. Os olhos de Clarissa pararam, fitos no tio; não teve força para falar.
Ele se aproximou da sobrinha, rindo e bateu-lhe no ombro.
- Parabéns! Transferida. - Mostrou com o dedo uma notícia no ”Diário Oficial”. - Transferidinha da Silva.
Clarissa deixou-se cair numa cadeira. D. Clemência não podia acreditar. Assim tão depressa, tão fácil... Era impossível. Pegou o jornal. Olhou. Sim, ali estava o despacho. Mas... Seu rosto entristeceu.
- Pra Canoas! -exclamou.
- Pra Canoas - confirmou tio Couto. - Que tem isso?
- Clemência deixou cair o jornal, consternada. Haviam pedido Porto Alegre e lhes davam Canoas. Era sempre assim...
- Mas, mulher - encorajava-a D. Zina. - Canoas é o mesmo que Porto Alegre... Conheço umas quantas moças que moram aqui e dão aula em Canoas...
- Vão de ônibus - explicou tio Couto. D. Clemência encolheu os ombros.
- Mais despesa...
Tio Couto fez um gesto de impaciência.
- Bolas! Numa época destas, quando se consegue um lugar assim é de erguer as mãos pro céu!
Clarissa começava a compreender. Entusiasmava-se. A viagem de ônibus até seria um passeio. Não via nenhuma dificuldade. Ajudou a tia a convencer D. Clemência.
Naquele instante Vasco achava-se no quarto do conde. Oskar, metido no seu quimono de seda, com uma toalha no peito, as pontas atiradas por cima dos ombros, barbeava-se diante do espelho com uma gilete.
- Conde - dizia ele - estou no mato sem cachorro. Oskar voltou para o rapaz a cara ensaboada e perguntou:
- Como diz?
- Não sei o que vou fazer... O outro sorriu:
- Quem é que sabe? - perguntou, com a gilete no ar.
Vasco deu de ombros e enfurnou as mãos nos cabelos. O conde continuou a fazer a barba calmamente:
- Ninguém sabe que fazer, meu jovem amigo. Olhe os jornais ... Os políticos de vosso país não se entendem... Os políticos da Europa também não chegam a um acordo! Rasgam os tratados antigos e fazem novos tratados para rasgá-los amanhã .. . Esse é o característico da época; ninguém sabe de nada...
Fez uma pausa. Depôs a gilete na prateleira. Foi lavar o rosto. Voltou pouco depois, com o nariz pingando e uma toalha nova nas mãos. Vasco então lembrou-se de que a tia lhe contara que o conde tinha a mania de lavar as mãos e o rosto todo o momento, onde quer que encontrasse água. E como era exigente! Não usava uma toalha mais de uma vez. Era um homem tão ”cheio de nove horas” que tomava banho todos os dias, até no inverno.
O conde começou a empoar o rosto.
Vasco contemplava-o com curiosidade. Ali estava um homem enigmático. Fino, instruído, inteligente. Como se explicava que uma criatura assim estivesse morando numa pensão daquela espécie?
- Conde, você é um mistério.
Oskar jogou longe a toalha, com repugnância. Tinha dado pela presença dum leve cheiro desagradável. Pegou o pulverizador e borrifou o rosto e a cabeça. Depois, enquanto limava as unhas, disse:
- Todos nós somos um mistério para os outros... e para nós mesmos...
E contou com indiferença o que tinha sido a sua vida depois da guerra. Omitiu detalhes. Não enfatizou nenhuma situação, nenhum gesto.
Gastara em Paris os restos da herança paterna. Uma madrugada se vira com os bolsos vazios e nenhum plano de vida. Foi no fim duma noite particularmente cansativa. Estava exausto e enfastiado. Pensava no dia seguinte, na conta do hotel, na necessidade de encarar o futuro.
Pela primeira vez pensou no suicídio. Era um desencantado. Olhou o Sena e se imaginou cadáver, achado na praia na manhã seguinte, bem como as costureirinhas seduzidas dos romances antigos. Ridículo! E estaria desfigurado, carcomido, malcheirante...
Não. A ideia de suicídio era superficial. Suja também. Foi para o hotel e dormiu profundamente. Acordou atordoado e amargo. Fez a barba, almoçou, tomou uma ducha fria e abriu os jornais para logo em seguida jogá-los longe. Tirou da gaveta da cômoda um revólver. Era uma arma fina, com incrustações de ouro. Pertencera ao pai e devia valer bom dinheiro.
Revirou o revólver nas mãos... Sentiu o rombo no crânio, o sangue quente escorrendo da ferida, sujando-lhe a camisa branca de seda.
Botou a arma de lado. Que diabo era aquilo? Porque se apegava tanto à vida? A guerra lhe estragara os nervos e o incapacitara para o trabalho. Trabalhar era horrível. Não encontrava nenhuma sedução na vida. Pensou na miséria, que fatalmente viria, e nas roupas sujas e rasgadas que se veria forçado a usar. Seria mais um desses milhares de homens cinzentos que, com a gola do paletó erguida e as mãos nos bolsos, caminhavam à toa nas praças, sem emprego e sem muita esperança.
Pegou de novo a arma. Examinou-lhe o tambor. Estava carregado. Valia umas boas centenas de francos. Pegou o chapéu e foi vender o revólver. Meteu o dinheiro no bolso sem nenhum remorso. Almoçou com champanha. À noite jogou na roleta o número do quarto. Ganhou. Repetiu o jogo. Ganhou quatro vezes.
Saiu de madrugada com alguns milhares de francos.
Dormiu mal, mas amanheceu alegre. No hall do hotel viu um cartaz: céu muito azul, o Pão de Açúcar, a curva de Botafogo. Uma agência de turismo anunciava viagens baratas ao Brasil.
Ali estava uma aventura. Ele era só no mundo. Que . surpresas o aguardariam do outro lado do Atlântico?
Tomou uma passagem. Enjoou na viagem. Entrou na Guanabara e ficou deslumbrado, achando, embora, que o cartaz tinha exagerado um pouco nas cores. Desceu no Rio. Foi para o melhor hotel. Passava as tardes (achava detestável era o calor carioca) estendido na areia de Copacabana, olhando o céu, as mulheres, o mar. Tudo aquilo era novo. Gostava. Esquecia.
Mas o dinheiro ia acabando. Apostou na roleta e foi infeliz. Teve de procurar ocupação. Fez-se professor de línguas. Os primeiros meses de vida ociosa lhe haviam valido muitas relações na sociedade. Foi-lhe fácil arranjar alunos ricos. Cobrava caro. Continuou a viver folgado. Assim, quatro anos.
Um dia...
- Um dia precisei deixar o Rio... - continuou o conde. - O meu jovem amigo será discreto e não perguntará o motivo. Mas tomei o avião para cá e aqui anunciei-me também professor de línguas. Tudo correu bem no princípio. Depois... os alunos diminuíram e eu me vi forçado a tornar uma medida desagradável. Baixar o padrão de vida. Não é mais interessante procurar temporariamente uma pensão modesta do que viver atormentado pelo gerente dum hotel que nos bota a conta debaixo da porta todas as semanas? Voilà! Nunca contei esta história a ninguém. Tome isso como uma prova de estima.
Tirou o quimono e vestiu o casaco. Ia sair para dar uma aula. Levou algum tempo para dar o laço na gravata. Vasco contemplava-o em silêncio. Depois de alguns instantes:
- Conde! - disse. - Se eu encontrasse você num romance, dizia: ”Eis um tipo falso”. No entanto...
- No entanto egzisto ... pelo menos penso que egzisto. Passando o pente pelos cabelos, continuou:
- O meu jovem amigo ainda não viu nada. Há de perceber um dia que a vida zomba dos homens e tem prazer em corer um páreo com a ficção ... E o diabo é que no fim de certo tempo nós começamos a nos sentir um poço como personagens de romance... Influência dos livros, do cinema. Parece que aquele bom Wilde se esqueceu de mencionar a funesta influência que a arte tem sobre a vida. Quando pensámos em suicídio é sugestionados por todos os suicidas dos livros que lemos, por todos os suicidas das notícias de jornais, das peças de teatro...
Pegou a bengala, o monóculo, o chapéu.
- Já reparou também - continuou - como ficamos contentes com o papel de heróis e como nos iritamos quando nos dão o título de vilon? Outra cosa: todo o homem, letrado ou non, está fazendo consciente ou inconscientemente a sua autobiografia.
Saíram do quarto. No corredor, o conde lembrou-se:
- Ah! Ia esquecendo... Sabe que Anneliese vai voltar para a Europa?
Vasco teve um sobressalto que procurou disfarçar:
- Não... Não sabia. - Esforçava-se por falar com naturalidade. - Quando?
- Oh... Dentro de poucos dias. - Arrumou o chapéu. O outro estava ansioso, queria saber mais. O conde só acrescentou isto: - Não gostou do Brasil. Diz que o vosso país é uma terá de bárbaros. Ela odeia o calor.
Despediu-se e saiu. Vasco ficou com um peso no peito.
Anoitecia e tinham acabado de jantar. Fernanda levava os pratos da mesa para a cozinha. A mãe recebia-os com cara sombria e fazia-os mergulhar na água fervente da pia. Não tinham criada, o orçamento não permitia. D. Eudóxia mergulhava as mãos murchas e pálidas na água. Fazia aquilo para se flagelar. Era o seu protesto contra a situação; contra a necessidade de fazer aquele serviço; contra Noel, que recusava pedir auxílio ao pai; contra Fernanda, que apoiava Noel na recusa; contra a vida...
Os-rádios da vizinhança começavam a berrar.
Noel estava à janela a contemplar o céu profundo, dum azul transparente como o dessas lagunas cercadas de coral que ele vira descrita em romances dos Mares do Sul. Brilhavam as primeiras estrelas. As torres da igreja protestante se desenhavam em negro contra o céu. Tudo seria sereno se não fosse a música horrível que os alto-falantes arremessavam contra a noite: sambas, marchas e batuques do carnaval que se aproximava.
Fernanda tirou a toalha da mesa e dobrou-a com cuidado. Cansada... O bebê já começava a pesar. Ela sentia sufocações. O calor aumentava-lhe a sensação de mal-estar.
Guardou a toalha na gaveta do armário. Pôs em cima da mesa um guardanapo de renda e um vaso no meio.
Noel voltou-se, teve pena dela, sentiu-se culpado. Se ele ganhasse mais, poderiam manter uma criada, uma casa melhor e Fernanda teria mais conforto e descanso.
Aproximou-se dela e beijou-lhe a testa. Fernanda sorriu, agradecida.
- Que calor, meu filho! - sussurrou. Atirou-se numa cadeira.
Começaram a falar no filho. Dentro de três meses ele estaria misturando o seu choro à música dos rádios. Fernanda queria um homem. Noel preferia uma menina.
com a cabeça atirada para trás ela ofegava um pouco, de olhos fechados. Noel murmurou:
- Devias ir ao médico, Fernanda. Essas tonturas, essa falta de ar...
- Tudo natural...
- Pode não ser... Não deves facilitar.
De repente ela se lembrou da mãe, só, na cozinha. Num salto ergueu-se e foi em socorro da velha.
Noel acendeu o rádio, distraído. Em breve se retraçou no ar o desenho duma melodia. E ele deixou que seus pensamentos se desenrolassem ao compasso da música. Fechou os olhos e esqueceu as brutalidades da vida. Esqueceu aquele sujeito horrível que vinha todas as semanas com a conta do armazém; esqueceu o sofrimento de Fernanda; esqueceu que precisava duma fatiota nova; esqueceu que era sempre forçado a recalcar o desejo de comprar novos livros; esqueceu que já não tinha mais a sua tristonha mas bela solidão, a sua intimidade, a sua...
Um ruído chamou-o à realidade. Batiam à porta. Foi abrir.
Era D. Magnólia, a vizinha.
- Boa noite, seu Noel. A Fernanda está?
- Entre, D. Mag.
A mulher entrou. Estava aflita, o ar apreensivo.
- Fernanda! - disse Noel em voz alta. - D. Mag está aqui... Sente-se, D. Mag.
- Muito obrigado.
Fernanda apareceu, enxugando as mãos no avental.
- Boa noite, vizinha.
- Mag arregalou para ela os seus grandes olhos espantados e despejou:
- É a Lu. Outra vez! Outra vez! Des’ulpe. - Ofegava. Sua cabeça de passarinho se movia dum lado para outro.
- Mas venha me ajudar, D. Fernanda... Venha... Aquela menina ainda me mata... Me mata... Venha... A senhora ela ouve ... Me ajude!
Puxava Fernanda pela mão. Noel contemplava-a num silêncio contrafeito.
- Mamãe, eu já volto! - gritou Fernanda. E saiu com a outra.
Entraram na casa vizinha.
Fernanda sentia sempre uma opressão quando se via na sala da casa de D. Magnólia. Tudo ali tinha um ar tão triste, tão sombrio, tão doentio. .. Os móveis eram escuros. A Bíblia encadernada de couro negro em cima da mesa. (D. Mag era metodista.) Quadros nas paredes com legendas tiradas das Escrituras. Um cheiro de defumação. E - o mais horrível de tudo - no canto da sala, a figura daquele homem sentado, vencido, daquele homem enorme, magro, amarelo, roído pelo câncer.
Era Orozimbo, o marido de D. Mag. Quando lhe falava, Fernanda tinha a impressão desagradável de que estava falando com um morto.
A luz da sala estava apagada. Entrava pelas janelas uma fraca claridade que vinha das lâmpadas da rua.
Fernanda sentiu logo a presença de Orozimbo. Cumprimentou:
- Boa noite, seu Zimbo!
E a voz dele, fraca, doente, mas mesmo assim profunda, incoerentemente musical, respondeu:
- Boa noite!
Entraram no quarto de Lu. D. Mag acendeu a luz e retirou-se, fechando a porta. Fernanda viu a menina a chorar estendida na cama, de borco, com a cabeça mergulhada no travesseiro. Ajoelhou-se junto dela, passou-lhe a mão pelos cabelos.
- Então, bobinha. Por que é que está chorando?
Lu soluçava sem responder. E depois, como Fernanda insistisse muito na pergunta, explodiu:
- Eu... eu... queria... fazer... uma fantasia... e... e... essa besta não quer...
- Não diga assim, Lu. Ela é sua mãe.
- Besta! Isso que ela é.
- Mag chorava no corredor. Por que Deus a castigava assim, dando-lhe uma filha desobediente e blasfema? Não era ela uma boa cristã? Não ia todos os domingos ao culto? Não lhe bastavam os trabalhos que passara com o marido nos primeiros tempos do casamento, quando ele andava na pândega com outras mulheres? Não chegava o que ela sofria agora que ele estava doente e vivia ali no canto, derrotado, a falar na morte, a queixar-se da vida, a atormentá-la a todo o instante? Não bastava a trabalheira que ela tinha de pedalar a Singer todo o dia para ganhar dinheiro para o sustento da casa? Para ganhar dinheiro para dar vestidos e educação àquela ingrata?
Fernanda passava a mão pela cabeça de Lu e lhe dizia de mansinho:
- Não vê que não é direito você ir ao baile de carnaval quando seu pai está tão doente? Não vê que sua gente é pobre e que você precisa ter muito juízo?
Lu explodiu de novo, sentando-se na cama:
- Eu tenho ódio dela. Tenho ódio dele. Dos dois! Fernanda se pôs de pé.
- Você não sabe o que está dizendo! Ódio de seu pai, de sua mãe?
Lu tornou a cair de borco. Sua voz saía abafada debaixo do travesseiro.
- Ódio, ódio, ódio.
Sim: tinha raiva dos pais. Porque eles não queriam que ela fosse feliz, que tivesse um namorado, que frequentasse os cinemas, os bailes. Que culpa tinha de ter nascido pobre? Que culpa tinha da doença do pai ou das ideias religiosas da mãe? Era moça, queria aproveitar a vida. Um dia a velhice chegava e tudo ficava perdido para sempre. Não havia moças que tinham automóveis, que cantavam no rádio, que viajavam, que dançavam, que possuíam vestidos bonitos? Então? Ela era acaso aleijada? Não. Era um monstro de feia? Também não. Por que não havia de ser feliz? Oh! Deus podia matá-la, podia castigá-la mas ela não sufocaria por mais tempo aquela raiva.
- Vamos - murmurou Fernanda - faça uma forcinha. Pelo menos finja. Não vê que sua mãe sofre, seu pai sofre?
Lu resistia. Obstinava-se. Havia de fazer a fantasia, havia de ir aos bailes do Cassino, nem que para isso tivesse de fugir.
Fernanda por fim cansou. Sentou-se na cama, passou a mão pela testa. Ela trazia um filho no ventre. Talvez uma filha. Hoje fazia parte de seu ser: amanhã poderia haver uma separação tremenda como a que ela estava vendo... Teria o mundo entre ela e a sua criaturinha. Um milhão de desentendimentos, de conflitos, de interesses em choque...
- Então Lu, não quer ser boazinha?
Lu ergueu-se. Tinha uns olhos verdes muito grandes.
Era fina de corpo e suas mãos, longas e brancas.
Fernanda contemplou-a com simpatia e pena. Lu tomou-lhe das mãos e, com olhos vermelhos de chorar, perguntou:
- Tu achas que eu sou má? Achas? Será que nem tu, nem tu me compreendes?
Encostou a cabeça no peito da outra e desatou de novo o choro.
Cinco minutos depois Fernanda saiu do quarto..
- Mag esperava-a no meio da sala. Nos seus olhos espantados havia uma interrogação ansiosa. Apesar de estarem na penumbra, Fernanda viu a dor que os velava.
Aproximou-se dela, bateu-lhe no ombro.
- Não faça caso, D. Mag... Isso passa. Amanhã quando ela voltar da escola e estiver mais calma, eu passo um sermão nela. Por hoje, lhe peço: não diga mais nada. Deixe... Essas criaturinhas são assim. Quanto mais confiança se dá, mais elas incomodam...
Enquanto falava, Fernanda ouvia, horrorizada, a respiração arquejante do doente no seu canto escuro.
- bom, deixe ajudar a mamãe a lavar os pratos. Deu boa noite e voltou para casa.
No domingo de carnaval, bem cedo, os hóspedes da pensão ficaram intrigados porque o som do piano velho que Amaro tinha no quarto invadiu a casa toda. Era um fato singular. O homem nunca tocava àquela hora, nunca tocava com tanta força.
”Seu Amaro está entusiasmado com o carnaval” - disseram alguns. ”Enloqueceu” - afirmou, rindo, um dos mocinhos estandardizados. ”É um mistério” - pensou Clarissa.
Ainda de pijama, sentado ao piano, Amaro batia no teclado amarelento. Tocou Mozart. Scarlatti. Rachmaninoff. Composições suas.
Estava nervoso. Despedia-se do piano, ia mandá-lo de volta para o dono: o seu dinheiro acabava: ele não podia com o aluguel.
Por isso, tocava, tocava... Depois caiu em si, olhou a hora e ficou muito conturbado. Tinha se portado como uma criança. Que haviam de estar pensando dele os outros hóspedes?
Lembrou-se então que era o primeiro dia de carnaval e ficou ainda mais melancólico. Entrou no quarto de banho. Voltou depressa, com medo de ser visto. Trocou de roupa. Esperou.
Às nove horas vieram os empregados da empresa de mudanças.
- Podem levar... - disse com resignação, apontando para o piano.
Acompanhou-o escada abaixo. Teve a impressão de que via descerem o cadáver dum amigo, dum velho amigo.
A sala de refeições estava deserta. Amaro se felicitou; ninguém veria o seu constrangimento, o seu mal-estar.
Quando viu’o piano dentro do caminhão, recomendou:
- Tenham muito cuidado. O piano não é meu.
Deu o número da casa. O caminhão partiu. Ele seguiu o piano com o olhar. Depois atravessou o jardim. A sua sombra era triste no chão. Um guri passou na rua assobiando uma canção de carnaval.
Na sala de refeições a balbúrdia naquele dia foi maior à hora do almoço. Os rapazes da mesa grande soltavam grandes gargalhadas, faziam planos, discutiam.
O conde apareceu vestido de branco. No fim do almoço Gervásio entrou de repente, provocando sensação. Todos os olhos se voltaram para ele. O rapaz atravessou a sala sem dizer uma palavra e sem olhar para ninguém. Subiu a escada de três em três degraus. Vasco ergueu-se de sua cadeira e o seguiu. Encontrou-o no quarto, acocorado perto da cama.
- Ué? Que negócio é esse? Por onde tens andado? Gervásio voltou a cabeça. Estava com barba crescida.
Mais magro, mais amarelo, os olhos mais fundos.
- Enfim vai acontecer alguma coisa - disse ele, baixinho, apertando os lábios.
Puxou a velha mala surrada. Ergueu a tampa e começou a tirar dela maços de papel, roupas, livros. Vasco sentou-se na cama e ficou olhando.
- A polícia anda atrás de mim... - Gervásio falava depressa, quase ofegante. - Me pegaram distribuindo boletins, eu sei que estou marcado. A greve falhou. São uns porcos!
Rasgava cartas, recortes de jornais, livros. Seus gestos eram frenéticos, suas mãos tremiam.
Do fundo da mala tirou um revólver de cabo de madeira preta.
- Vivo, esses cachorros não me pegam.
Botou o revólver no bolso. Continuou a rasgar cartas.
- Não quero comprometer ninguém. - Olhou para Vasco e gritou-lhe com raiva: - Que é que está fazendo que não me ajuda? Tem medo de se comprometer?
Vasco ajoelhou-se e começou também a rasgar papéis.
Sentiu renascer um velho desejo... Quando criança, o seu ideal era salvar uma vida. Sonhara sempre com aquele prazer: salvar alguém. Ir pela beira duma lagoa, ouvir um grito: ”Socorro!”... Um menino morrendo afogado... Jogar-se nágua arrancar o outro à morte. Ou então encontrar um suicida à beira dum precipício, e bem no momento em que ele corresse para o salto, cortar-lhe o caminho ... E agora, de súbito, lhe voltava o desejo antigo. Gervásio era um suicida. Ia precipitar-se. Não tinha pai nem mãe. Não tinha amigos. Só o seu ódio, o seu desespero. Caminhava cego para a morte.
Vasco já não enxergava claro. Era preciso deter Gervásio... Era sua obrigação evitar o suicídio. Tinha de dizer alguma coisa... E como essa coisa não lhe ocorresse, segurou Gervásio pela gola do paletó e começou a sacudi-lo, primeiro de leve, depois num crescendo e finalmente com brutalidade.
- Louco! Louco! Louco!
O outro procurava safar-se.
- Me larga!
Cuspiu ao soltar estas palavras. Seus olhos fuzilavam. Seu rosto se contraía. Deu um violento pontapé na canela de Vasco, que cegado pela dor, o empurrou com violência. Gervásio caiu de costas, mas no instante seguinte já estava de pé e investia, feroz. Saltou como um tigre ao pescoço de Vasco, o qual, perdendo o equilíbrio, tombou de costas na cama. Mas foi-lhe fácil dominar Gervásio. com ambas as mãos ergueu-o no ar, depois deixou-o cair a seu lado. Subiu para cima dele, apertando-lhe as espáduas contra o colchão.
- Seu bruto! Seu idiota! - murmurava Vasco. - Não vê que eu sou seu amigo? Não vê? Está louco?
A voz do outro se ouviu, surda de ódio:
- Não quero a tua amizade! Não quero a amizade de ninguém! Também não passas dum pequeno burguês ordinário. Me larga!
Ofegava, espumava, gemia no esforço que fazia para se libertar.
Vasco largou-o. Ergueu-se mas manteve-se em atitude de defesa. Gervásio deixou-se ficar deitado e arquejante.
Silêncio. Um silêncio longo que surpreendia a ambos.
Depois veio o arrefecimento. Vasco ergueu a calça: a canela esfolada sangrava. Gervásio punha-se de pé devagar.
- Machuquei? - perguntou com voz mais serena. Vasco levantou os olhos.
- Não foi nada.
Contemplaram-se em silêncio. Gervásio arrumou a gravata e depois disse:
- Perdemos a cabeça.
E de repente Vasco sentiu uma coisa estranha: uma espécie de vergonha misturada com remorso e apreensão. É que não compreendia como tinham chegado àquela cena violenta. Era doida. Era incongruente. Era ilógica. No entanto, acontecera...
Gervásio apanhou o chapéu ruço e amassado, fincou-o na cabeça e saiu sem dizer palavra.
Vasco molhou a ponta duma toalha e passou-a de leve na ferida.
Naquele mesmo dia, ao anoitecer, Gervásio voltou à pensão. Jantou tranquilo e solitário e ao deixar a mesa surpreendeu tio Couto com um pedido:
- Veja a minha conta.
Tirou dinheiro do bolso e pagou os dois meses atrasados que devia.
- Quer recibo?
- Não.
Quando ele subiu para o quarto, tia Zina aproximou-se do marido e os dois ficaram a se entreolhar com caras espantadas. O menino decerto tinha assaltado um banco... Ou dado uma facada em algum conhecido... Era extraordinário!
No corredor Gervásio encontrou um bando de pierrôs, vermelhos. Viu quatro caras pintadas de palhaço, com bocas rasgadas e narizes brancos de alvaiade. Eram os moços da mesa grande. Faziam algazarra, como um bando de papagaios. Um deles tocava violão. Outro repinicava num cavaquinho. Um terceiro esfregava um reco-reco. Sentado na janela, o mais assanhado de todos cantarolou uma canção e depois disse:
- Batatal! Batatal! Vamos embora, todos juntos... O bando rompeu numa marcha carnavalesca. Gervásio desviou os olhos deles com nojo. Entrou no
quarto e encontrou Vasco de pé à frente do espelho, ensaboando o rosto. Fitou-o em silêncio e depois, com voz amarga, perguntou:
- Também vai se fantasiar?
Vasco voltou-se, sério, fitou o interlocutor e respondeu:
- vou.
- De quê?
Vasco deu de ombros.
- Não sei ainda... Talvez de Adão antes de comer a maçã... Talvez de arlequim. Quem sabe? E você, por que não se fantasia também, seu Lenine? A propósito, já jogou futebol? Tem um pé tremendo... A canela ainda está me doendo...
Gervásio sorriu um sorriso forçado. Ouvia ainda a cantiga dos pierrôs vermelhos no corredor. Idiotas! Teve vontade de sair correndo do quarto e crivá-los de bofetadas, cuspir-lhes nas caras pintadas. Sentia que era capaz até de suicidar-se na frente do bloco, só para lançar uma nuvem, por um instante que fosse, naquela alegria cretina. O diabo era que, morto, ele não podia ver a expressão de pavor por trás da máscara de carmim e farinha.
Através do espelho Vasco contemplava o amigo e se apiedava dele. Não teria vida longa o pobre-diabo! Estava cada vez mais encurvado, magro e amarelo.
Naquele momento ouviu-se o ranger dos freios dum automóvel que parava à frente da pensão. Gervásio teve uma estranha premonição’. Saltou para a janela. Voltou para Vasco o rosto transfigurado por uma alegria diabólica. Vasco ficou a contemplá-lo sem um gesto, sem uma palavra, com a gilete no ar, a metade do rosto já barbeada, a outra metade ainda branca de espuma.
No corredor os foliões cantavam. Agora era um samba. Estavam frenéticos de alegria. Ainda dentro de algumas horas estariam a invadir o Cassino, a Germânia, entrariam nas pensões, nos cabarés...
Gervásio precipitou-se para fora do quarto. Vasco voltou-se para o espelho. Passaram-se vinte segundos. Gritos lá embaixo. Um ruído pesado de passos apressados na escada. Gritos mais perto. A música parou. E, de repente, uma detonação. Outra. Outra. E mais outra. Um baque surdo nos degraus. Depois, silêncio...
Vasco atirou a gilete para cima da cama e saiu correndo, adivinhando tudo.
Do alto da escada, olhou. Gervásio estava estirado no chão, lá embaixo. Dois homens o contemplavam’ em silêncio; estavam armados de revólveres. O coração aos pulos, as pernas bambas, Vasco desceu devagarinho. No penúltimo degrau, parou, sentou-se e ficou olhando fixamente para o corpo do amigo.
com a cara contorcida voltada para o teto, os braços abertos em cruz, Gervásio parecia dizer ainda: ”O ódio é a coisa mais bela do mundo”. Mas de sua boca não saiam palavras: Gervásio agora falava sangue.
Vasco olhava para o cadáver fixamente, bestificado, zonzo. O coração parecia querer saltar-lhe pela boca.
Os homens que se achavam ao pé do corpo ofegavam, pálidos. Um deles balbuciou:
- Quem deu o primeiro tiro foi ele...
Tio Couto atendia na cozinha a mulher que tinha desmaiado.
No alto da escada as quatro caras pintadas dos pierrôs vermelhos espiavam para baixo, com uma expressão de pavor por trás da máscara alegre de palhaço.
O conde saiu do quarto em robe de chambre e olhou.
Viu Gervásio estendido no chão e a poça de sangue que começava a debruar-lhe o corpo magro. Franziu a testa. Lembrou-se da guerra e do amigo que vira com a cara estraçalhada por uma granada. (O sangue tingia a neve e havia sol nas montanhas.) Engoliu em seco, voltou para o quarto e foi tomar uma dose de leite de magnésia.
Vasco continuava a olhar... E aqueles breves minutos em que ele ficou ali olhando o corpo - enquanto a seu redor se ouviam gritos, comentários e choros - lhe pareceram uma eternidade. O vulto de Gervásio enchia todo o campo de sua visão. E na sua tontura ele confundia imagens. Via, ao pé da escada, João de Deus com o olho furado jorrando sangue.
Minutos depois chegou um médico e o carro da Assistência. O doutor inclinou-se sobre o corpo e disse que não havia mais nada a fazer. O rapaz estava morto. O tiro lhe atravessara o coração e o pulmão.
Os investigadores descreveram a cena ao médico. Gente da rua, vizinhos, pensionistas acumulavam-se na varanda. A algazarra crescia.
Levaram o cadáver numa padiola. Os investigadores se retiraram.
Sentado agora a um canto, aniquilado e pálido, tio Couto murmurava numa obstinação:
- Na minha casa, na minha casa, logo na minha casa ...
A balbúrdia continuava. Pela fresta duma porta espiaram os olhos assustados de Clarissa.
Vasco olhava agora para a poça de sangue. E não lhe saía da mente uma ideia angustiante, uma dúvida terrível. Será que Gervásio tornou a encontrar a mãe?
Entrou no quarto do conde e encontrou-o a ler.
Parou na frente dele sem palavra, fitou-o bem nos olhos, com uma expressão de ânsia no rosto pálido, como a lhe pedir uma explicação de tudo aquilo. Oskar fechou o livro, deitou-o sobre os joelhos, cruzou os braços e disse em tom bíblico:
- E aconteceu que os dois desaforados gigantes não eram dois moinhos, mas sim dois investigadores armados ...
Vasco naquele instante odiou o conde. Entrara ali em busca de calor humano, duma palavra de solidariedade, de conforto e o que encontrava era um homem perfumado, bem vestido, frio.
- Conde, você é um cínico.
- Thank vou.
Vasco voltou-lhe as costas e caminhou para a porta. Quando botou a mão na maçaneta ouviu a voz do outro:
- Olhe... Anneliese me pediu que lhe dissesse que esta noite vai ao baile do Cassino e espera encontrar lá o meu jovem amigo...
Vasco saiu, batendo a porta com força, sem dizer palavra.
Anneliese e o conde que fossem para o inferno!
Gervásio estava morto. Aquilo fora um suicídio, um gesto desesperado. Parecia-lhe ouvir ainda as palavras do amigo naquela noite à beira do rio, contando a sua história dolorosa. Via-lhe a cara envelhecida e amarela, a expressão de envenenamento, o ódio irremediável que chispava nos seus olhos. Gervásio estava morto. Não sofreria mais. Não pensaria mais nas injustiças da sociedade, na malvadez fria do tio Candoca, na desgraça da mãe prostituta, no preço das matrículas, nas dores do mundo.
Vasco foi ao salão da Faculdade de Medicina onde velavam o corpo de Gervásio. Não teve coragem de erguer o lenço que cobria o rosto do morto.
Lembrou-se da sua noite de pavor em Jacarecanga e sentiu-se outra vez sufocado. Saiu para a rua. Passavam automóveis alegres, com fantasiados que cantavam e gritavam.
Pôs-se a andar pelo Parque. Fugiu das aléias cheias de gente. Meteu-se por entre as árvores. Cheiro fresco de ervas úmidas. Sombras verdes veludosas. No viveiro as garças agitavam as asas brancas.
Vasco caminhava acompanhado pela sombra dos seus mortos. Gervásio ia à frente, como o baliza do bloco dos espectros. Gesticulava e berrava e convidava todos para odiar. João de Deus reclamava: Está fria a água do chimarrão, que coisa! Clemência onde é que estão os meus chinelos? E D. Zezé mascando fumo, murchinha e encolhida debaixo do xale de xadrez, ria a sua risadinha sem som. com o quepe puxado para cima dos olhos, Xexé resmungava: Só um canaia, surrei na minha mãe. A seu lado, o fantasma jovial de Álvaro ia olhando para as estrelas, cantarolando uma canção napolitana, desligado e feliz.
Vasco avistava as luzes do Cassino por entre as árvores. A música do jazz chegava-lhe amortecida aos ouvidos.
Parou. Sentou-se num banco. Os mortos se acocoraram todos a seu redor. Vasco começou a odiá-los. Só amava o fantasma alegre que cantava ao som do jazz, que apontava para o Cassino, que convidava...
Olhe, a Anneliese me pediu que lhe dissesse... A voz do conde ressoou-lhe na mente. A imagem de Anneliese surgiu e exorcizou os fantasmas. Estava de maiô verde, contra um céu de sol.
Vasco ergueu-se de repente e caminhou para o Cassino, que era como um iate cor de laranja ancorado no meio do Parque.
Começou aos poucos a sentir a fúria... Ia apressado, ansioso. Sim, entraria sozinho. O porteiro não deixaria passar os fantasmas. Lá dentro estava Anneliese. Era moça e tinha os seios tenros. (Marvin lui caressa...) Lá estava o conde. Era cínico mas encantador: limpo, claro, perfumado - a negação de toda a sordidez que ele, Vasco, via a seu redor, a certeza de que além da morte, do sangue, do ódio e da lama existia um mundo asséptico, civilizado, habitável.
Entrou.
Sentiu-se mais uma vez perdido na floresta. Não era, entretanto, aquele matagal cerrado, negro e macabro da noite do velório. Era uma floresta luminosa de contos de fadas, com pássaros de todas as cores, sol, muito sol, faiscações, perfumes, flores monstruosamente belas que só vicejam nos climas impossíveis.
Ele seguia por entre os pares que dançavam. Recebia encontrões de todos os lados. Ia tonto. O jazz berrava. Serpentinas cortavam o ar, roçavam-lhe pela testa, pelos olhos, pela boca, pelas mãos. A algazarra dos pássaros coloridos. E o sol!
Teve vontade de pintar aquele movimento. O som e as cores e as formas se confundiam e amalgamavam duma maneira tal, que não havia mais separação possível.
Vasco procurava Anneliese. Andava ao redor das mesas. Passava os olhos por cima das cabeças.
Esqueceu Anneliese olhando as outras mulheres. Morenas, umas, outras, louras ou ruivas: algumas quase mulatas. Elas passavam rápidas. Rostos cresciam diante de seus olhos para desaparecerem depois. Pensou numa fita de Eddie Cantor: as girls lindíssimas crescendo até um close-up assustador para depois se sumirem de repente. As fantasias se confundiam. Vasco sentia com os olhos e com o olfato o contato de todas aquelas sedas e de todas aquelas carnes! Esquecera os mortos. Esquecera a angústia. Só o que o inquietava agora era o sentir-se uma peça estranha e solta naquela engrenagem doida. Queria ser pássaro ou planta, tronco ou ramo na floresta - tudo, menos viajante perdido.
O jazz tocava... Vasco via o mulato do saxofone, suado, com a cara reluzente, os olhos doidos, possuído do demônio do ritmo, gingando, tocando com os pulmões, com os olhos, com o corpo inteiro.
De repente avistou Anneliese. Estava sentada a uma mesa em companhia do conde e de Inge Merkel.
Caminhou para o grupo. O sorriso de Anneliese (os zigomas salientes, o narizinho enrugado) animou-o. O conde sorriu também com simpatia; não estava zangado, o companheirão! Inge olhava para o ”selvagem” com uma curiosidade divertida.
Vasco mal podia conter a fúria. Ergueu a mão na saudação fascista e berrou:
- Ave César, os que vão morrer te saúdam! Sua voz se perdeu na balbúrdia geral.
Apertou a mão de todos. Sentou-se ao lado de Anneliese. Sentiu vontade de beijá-la. Ela leu esse desejo nos olhos dele e exclamou:
- Neinl Nein! Nein!
Inge e o conde conversavam em surdina. Oskar serviu champanha ao recém-chegado. Vasco emborcou a primeira taça. Segurou as mãos da amiga, apertou-as muito. O jazz começou a tocar um fox. Ele arrastou Anneliese para o meio da multidão. Chamou-a docemente para si, enlaçou-lhe a cintura e arrastou-a ao compasso da música, sentindo contra o peito o seio dela e contra o ombro aquela cabeça loura, que recendia a alfazema.
Voltaram para a mesa e continuaram a beber. Anneliese pediu mais champanha. Inge e o conde agora dançavam. Vasco e Anneliese olhavam um para o outro e riam.
Foram depois para a sala de jogo. Anneliese comprou fichas. Jogaram todas no 14. A bola correu 16! Retornaram ao grill-room...
Vasco sentiu um tapa nas costas. Voltou-se.
- Como vais, homem?
- Olívio!
Era um velho conhecido de Jacarecanga. Tinham brincado juntos, muitas vezes quando garotos.
- Que é que andas fazendo por aqui?
Naquele instante um bloco que entrava (meninas fantasiadas de piratas) passou por eles como uma onda sonora, envolvendo-os. Quando o mar serenou, Olívio começou a olhar em torno, atarantado:
- Ué? Perdi o meu par... Essa é que não! Saiu a procurar...
Alguns minutos depoisapareceu trazendo pela mão uma menina de dominó negro. Vasco convidou-os para sua mesa. Aceitaram.
- Champanha, garçon! - gritou Oiivio.
E Vasco, ainda mesmo no meio daquela turbulência, teve tempo para lembranças e comparações. Parecia ver ainda o garoto Olívio, filho de seu Hugo alfaiate, o moleque Olívio, ranhento e magro, de pés descalços e cara suja, gritando: Foi golo! Foi golo! O juiz tá robando! No entanto ali estava agora de smoking e colarinho duro, penteado, perfumado - um sujeito até bonito, forte, de ombros largos.
- Ba, menino! Que farra! - exclamou Olívio, ajeitando a gravata. - Mas... não me apresentas a tua pequena?
Vasco apresentou. Anneliese e Olívio apertaram-se as mãos por cima da mesa, em silêncio. Vasco explicou:
- Ela não sabe patavina de brasileiro. Olívio mostrou o dominó negro.
- Esta é a Lu. Estou apaixonado por ela, e ela por mim, não é Lu?
Novos apertos de mão.
Vasco viu que a menina tinha uns olhos verdes singulares e era muito branca.
Olívio encheu a taça da namorada e depois a sua.
- Saúde! - disse. Todos beberam.
Anneliese contemplava-os com interesse.
- A Lu, imagina, menino, está aqui fugida. Ai! Não belisca! É verdade, que é que queres! A mãe dela é espírita...
- Protestante - corrigiu Lu.
- Pois é. Dá no mesmo. Espírita, protestante, judeu, tudo igual. Menino, ela pediu pra ir na casa duma amiga, cavou um dominó e zarpou pra cá. - Olhou o relógio. Antes da meia-noite tem que dar o fora.
Vasco contemplava o companheiro de infância.
- Tiraste a sorte grande?
- Sorte grande nada! O velho quis que eu estudasse. Sou trouxa? Eu não. Tenho uma sorte de cavalo ria roleta. Ah! Sabes? Comprei uma barata, está às ordens! Mas comigo é ali no joguinho... Quando estou pronto, meto vale. O gerente me conhece, é camarada.
Lu estava inquieta, vigiava a porta com seus olhos de gata. - com licença. Vamos dançar? Oh! Deixem que eu pago. - Tirou do bolso uma nota de cem mil-réis e deixou debaixo do pé da taça. Fez um cumprimento com a mão e saltou para o meio do salão, arrastando o dominó preto. Grudaram-se. Pareciam querer penetrar um no outro, fundir-se num só corpo. A ânsia de penetração se generalizava no salão.
Vasco tirou então um lápis do bolso, e desenhou para Anneliese nas costas dum cardápio a história de Olívio. Primeiro quadro: um garoto descalço, de cara suja, jogando futebol nas ruas de Jacarecanga. No segundo quadro, o pai do rapaz, encurvado sobre um casaco, costurando, com ar cansado, pensando no dia em que havia de ter na porta de sua casa uma placa: ”Dr. Olívio”. No quadro seguinte Olívio, junto do trem, despede-se do pai e, pela atitude do velho e pelo ar compenetrado do rapaz, se pode imaginar a série de conselhos que o pai deu e todas as promessas de bom comportamento que o filho formulou. Depois, Olívio perdido na grande cidade. A roleta, a baratinha, a namorada, os livros esquecidos...
Anneliese ria. No último quadro em branco, Vasco desenhou um ponto de interrogação. Emborcou outra taça de champanha. Pensou em Gervásio. (Senhores, como é que deixam entrar os mortos na festa?) Pensou nos pierrôs vermelhos olhando com caras de palhaços imbecis o cadáver sangrento do estudante. Imaginou Olívio correndo como um doido na baratinha, Lu fugindo da mãe protestante, ao passo que lá em Jacarecanga, estragando os olhos, as costas doendo, o velho Hugo cortava e costurava, imaginando o filho a estudar, a conquistar aos poucos o diploma...
De que valiam todas aquelas inquietações? De que valiam? Olívio tinha razão. Não adiantava matar-se. Õ velho Hugo era um pobre doido que acreditava no trabalho. No fim - trabalhadores ou vadios - todos teriam o mesmo fim...
Puxou Anneliese e foi dançar.
Às onze e meia entrou o bloco dos pierrôs vermelhos que tinham espiado o morto do alto da escada. Vasco, que já estava ficando tonto, teve vontade de atirar neles uma garrafa de champanha.
O jazz não cessava de berrar. Andava no ar uma mistura excitante: éter, perfume de carne de mulher, poeira de confeíe e bafio de álcool. O furor dos pares crescia. Explodiam gritos. A onda colorida se agitava. Uma bruma pairava no ar, tingida de mil perfumes e mil desejos.
O conde voltou para a mesa com Inge. Conservava a linha de sempre, o cabelo muito brilhante e penteado. Vasco já estava com uma mecha de cabelos caída sobre os olhos.
Oskar olhava para os fantasiados e filosofava:
- No carnaval certos desejos recalcados sobem à tona... A vontade que todo o homem tem de ser mulher se manifesta, tem coragem de tomar forma. Eles se efeminam, pintando-se, vestindo seda ou travestindo-se de mulher... As mulheres aproveitam o ensejo e vestem-se como os homens. É a saudade do sexo oposto. Isso me lembra o discurso de Aristófanes, no Banquete ... Os andróginos. .. No carnaval, os descendentes dos andróginos se revelam... Apoio foi um mau cirurgion... Quando separou as duas metades deixou no macho um pedacinho da fêmea e na fêmea um pedacinho do macho.
Vasco olhou firme para o amigo:
- Conde, você está bêbedo. Oskar deu de ombros.
- Que diferença faz? Bêbedos ou non sempre andamos às tontas.
Acariciou por baixo da mesa a mão de Inge. E repetiu em alemão a sua ideia a Anneliese, que desatou a rir. Seguiu-se um longo trecho de conversa em alemão. Vasco sentiu-se solitário, abandonado como um náufrago numa ilha deserta.
Bebeu mais. Pensou em Jovino. Viu olhos de censura postos nele. João de Deus. D. Clemência. Clarissa. O Dr. Penaforte.
Ba! Bebeu mais. Gervásio tinha morrido. O velho Hugo se matava de tanto trabalhar. Lu fugia da mãe. Ninguém acreditava em nada a não ser no prazer e no atordoamento. Era a corrida para as boas coisas da vida. Por que havia ele de ficar para trás? Ninguém sabia nada de nada. O mundo estava todo errado. E a garrafa de champanha, vazia.
Tonto, via o salão através dum nevoeiro mais forte do que o que andava no ar. Começou a brincar com a taça. Viu que os outros o observavam em silêncio, sorrindo.
- Nunca me viram? - perguntou. Fez um esforço para pensar claro. O conde pegou-o pelo braço:
- Venha, meu amigo, vamos dar um passeio... Arrastou-o.
- Conde, você pensa que eu estou bêbedo? É... é um desaforo. Não admito.
- Oh! Mas eu não seria capaz... Vasco lutava com a névoa, com a tontura.
Saíram do Cassino. Ao ar livre, Vasco se sentiu melhor.
Ficaram contemplando o lago riscado dos reflexos de grandes lâmpadas. Os feixes luminosos de três holofotes se cruzavam no céu, focavam ora o Cassino, ora o Auditorium. As estrelas cintilavam, esquecidas.
O conde deu um cigarro a Vasco. Andaram alguns passos, entraram num restaurante, pediram café. Vasco bebeu.
- Está amargo - disse.
- Assim é melhor.
Ficaram em silêncio. Vasco via o rosto do conde por trás da fumaça do cigarro. A calma lhe voltava. A tontura aos poucos passava.
Tornaram ao Cassino.
Viram uma cena curiosa à entrada. Um homem alto, de ar imponente, esperava junto da porta, enquanto um moço baixo e nervoso falava com o porteiro:
- Sou funcionário do Juizado de Menores, - dizia, mostrando uma carteira. - Tenho ordem pra levar uma menina que está aqui sem licença dos pais.
O gerente apareceu, apaziguador:
- Sim senhor, muito bem. Mas eu lhe peço encarecidamente que não dê escândalo. O senhor entra e procura a moça sem dar na vista.
- Mas eu não conheço! - exlamou o funcionário.
- Então como vai ser, se eu também não conheço? O outro apontou para o homem imponente:
- Aqui o reverendo conhece...
O reverendo rosnou na sombra. Estava com as mãos cruzadas às costas e de instante a instante alçava o corpo, erguendo-se na ponta dos pés para depois deixar cair pesadamente os calcanhares. Era um tique seu das horas de impaciência ou de contentamento. Quando se entusiasmava nos ofícios divinos, cantando hinos, subia e descia o corpo com faceirice inconsciente.
O gerente, amável, convidou:
- O reverendo não quer entrar?
O homem deu dois passos. Sua cara se mostrou à luz. Era vermelha e descarnada. Olhos cinzentos, nariz pontudo e alongado, boca de lábios finos e apertados, queixo enérgico.
-... ooo - rosnou ele -... eu gostaria de permanecer onde estou... ooo... porque...
Tinha uma profunda voz dramática.
O conde e Vasco, que haviam entrado, detiveram-se no saguão, sentaram-se nas poltronas e ficaram contemplando a cena, com interesse.
Finalmente o reverendo concordou em ir até a porta do grill-room, de onde poderia mostrar a menina que procuravam. Foi. Ficou ali, escrutando nervosamente o salão. De repente apontou... O gerente e o funcionário do Juizado de Menores entraram e voltaram pouco depois com a menina de dominó preto.
Quando Lu avistou o Rev. Bell, seus olhos fuzilaram de raiva. Outra vez aquele pescoço de peru se metia na sua vida. Vivia metendo o bedelho nas coisas de sua casa, de sua família. Azucrinava-lhe os ouvidos com convites para ir à Escola Dominical. Dera-lhe uma Bíblia encadernada em couro com uma dedicatória cretina. Era um americano insuportável!
A cara do Rev. Bell era um máscara rígida de severidade.
Seus olhos claros davam
uma ideia de frio metálico. Seus lábios, apertados, pareciam apenas um risco no rosto rubicundo. Sem olhar para a menina ele falou como se estivesse pregando um sermão do alto duma montanha.
- A menina não devia... - começou.
Ela voltou-lhe as costas e saiu pisando duro, furiosa. O reverendo seguiu-a. O funcionário do Juizado de Menores enxugava a testa e dizia:
- Arre, que troço custoso, minha mãe! E foi para o bar tomar um chope.
Vasco e o conde voltaram para a mesa. Anneliese dançava com Olívio. O céu clareava aos poucos. As estrelas se apagavam. O jazz calou-se. Olívio e Anneliese tornaram à mesa. Ele estava embriagado.
Vasco lhe disse com indiferença:
- Um padre protestante levou a tua pequena... Meus pêsames.
Olívio passou a mão pela cabeça e balbuciou com voz trôpega:
- Eu sabia... - Encolheu os ombros. Tomou um gole de champanha. - vou jogar cinquenta pilas no 13.
E dirigiu-se para o salão de jogo.
Vasco, que voltara a beber, olhou para Anneliese e teve vontade de assassiná-la.
O dia amanhecia quando saíram do Cassino na baratinha de Olívio. O ar da manhã nova era fresco e cheirava a orvalho.
O carro rodava no cimento. Olívio dirigia o carro. No banco da frente, a seu lado, iam o conde e Inge. Oskar continuava penteado e sereno. Lembrava-se das suas madrugadas em Paris, do amanhecer nas trincheiras, e daquelas manhãs longínquas de sua infância em que ao abrir a janela de sua casa, -sentia no vento o perfume do feno e as risadas das raparigas que iam para o trabalho do campo...
No banco de trás, Vasco se achava num estado de absoluta depressão. Voltava com o dia nascente a lembrança de seus mortos. Ele pensava em Jacarecanga. Jamais se havia de livrar daquele passado. Jamais. E a presença de Anneliese a seu lado agora não lhe dizia nada - absolutamente nada.
Passou por eles a carroça dum leiteiro. Um trem apitou longe.
Àquela hora Fernanda estava acordada. Revolvia-se na cama, sem encontrar posição cômoda. Dormira mal durante a noite. Sentia-se enorme, disforme, pesada e aflita. A seu lado Noel dormia tranquilamente. Pelos vidros da janela ela via o céu pálido da madrugada que aos poucos se fazia manhã. Ouvia os primeiros ruídos que vinham da rua.
Ficou pensando na sua vida, na vida de seus filhos, da sua gente. Dentro de menos de três meses o bebê nasceria. E o enxoval não estava nem em meio! Faltava dinheiro. Havia contas atrasadas a pagar. E a lã em novelo estava tão cara! O coitadinho nasceria nu... Sorriu. Viu o filho esperneando, nu, vermelho e enrugado. Sim, mas ela e Noel haviam de esquentá-lo com os seus corpos, com o seu carinho.
Pensou na mãe. Pensou no irmão. Pedrinho precisava entrar nos trilhos. com tanta coisa para cuidar - o bebê, o marido, os alunos, a casa - ela se descuidara do irmão ... Uma comadre bisbilhoteira lhe contara, com ar casual, mas comum mal disfarçado desejo de intriga: ”Me disseram que o Pedrinho está noivo duma menina da cidade baixa. Não está? Ah! Pensei que estava. Anda ao lado dela na rua, vão ao cinema juntos, me disseram que ele até já entra na casa. Um namoro tão feio!” Sim. Precisava passar um sermão em Pedrinho. Um pirralho de dezoito anos com trezentos mil-réis de ordenado não podia pensar em casamento.
Sentiu o filho espernear. Aquela impressão de vida dentro de seu ventre encheu-a duma felicidade quase sufocante, e fê-la esquecer o irmão. O diabo era aquele peso, a impressão de mal-estar, os rins doloridos...
Noel virou-se e pronunciou dormindo um nome que ela não entendeu. Fernanda olhou para o marido com ternura e passou-lhe a mão pelos cabelos de leve para não o acordar. Pobre menino! Ela o amava ainda como no primeiro dia, como o amara sempre, desde os tempos em que os dois iam à escola juntos. Às vezes ficava a pensar se tinha feito bem ou mal em arrancá-lo aos pais, trazê-lo para a vida, fazê-lo sofrer a fim de transformá-lo num homem completo. Tinha sido tão mal-educado... A mãe, para se livrar das responsabilidades da maternidade, entregara-o a uma negra carinhosa e despótica que criara o menino dentro dum mundo de fadas, superstições e carinhos excessivos. Como resultado disso crescera sem conhecer a vida, tornando-se um homem inútil. Coitado! Agora sofria. Ela compreendia. Via. Não se adaptava ao trabalho do jornal. Em casa vivia em conflitos surdos com a sogra e o cunhado. Tinha uma sensibilidade exagerada, quase doentia. Ficava às vezes mergulhado num silêncio fundo, sentado na sua poltrona, olhando para o livro aberto mas vendo apenas a sua fantasia de menino que só se sente feliz no reino da fantasia.
O dia clareava. O tempo passava. Fernanda pensava no parto, no que haviam de gastar no hospital, nos dias em que Noel ficaria em casa sozinho, desamparado, desprotegido, infeliz.
Procurou dormir. Cerrou os olhos. Nada. Tornou a pensar em Pedrinho. Depois lembrou-se da vizinha que lhe viera contar chorando que Lu havia fugido para o baile do Cassino. Pensou em Orozimbo e na sua doença horrenda. Pobre gente!
Noel tinha motivos para temer a vida. Ah! Mas tudo acabaria bem se eles não se acovardassem.
Lu dormia sem remorsos. O dominó negro estava atirado sobre uma cadeira. A luz pálida da madrugada invadia o quarto e quase se podia já ler o dístico do quadro por cima de sua cama: Eu sou o pão da vida; o que vem a mim não terá mais fome, e o que crê em mim não terá mais sede.
A respiração da menina era tranquila e regular. Lu estava metida num pijama branco. A coberta da cama rolara para o chão. Suas mãos, que Vasco tanto admirara e que Olívio tanto apertara, estavam caídas, quase invisíveis sobre a brancura do lençol.
Havia no ar um vago perfume, uma pálida lembrança do baile. No emaranhado dos cabelos dela viam-se ainda restos de confete.
No quarto contíguo D. Magnólia chorava e procurava Deus na sua aflição. Passara uma noite horrível. Fazia o possível para varrer da memória a lembrança daquela cena. O Rev. Bell - tão bom, tão delicado! - entrando com Lu pela frente. Ela parecia um demônio, dizia nomes, portava-se como uma vagabunda. - Ó Deus! Ó! Por que permites! Por quê?
Voltou-se para o marido:
- Zimbo, estás acordado? Ele rosnou:
- Estou.
- No que é que estás pensando?
- Em nada.
Mentia. Estava pensando na morte. com os olhos arregalados fitos no teto, sentia aquela ”coisa” pavorosa que lhe roía o estômago. Que importava o mais? Ele ia morrer. .. Ele, que tanto amara a vida!
Lembrou-se dos bons tempos de moço, das suas roupas vistosas, dos seus primeiros amores. com que apetite se lançara à vida! Tudo aquilo parecia mentira, parecia nunca ter acontecido...
Ouvia o choro da mulher. Quis perguntar: ”Por que é que estás chorando?” Não valia a pena. Era gastar palavras. Ele sabia. A causa de tudo era a Lu. Orozimbo se revia na filha. Aqueles olhos eram dele, aquela sede de prazer, aquela ânsia, aquela inquietude... tudo o sangue dele.
Esqueceu-se da filha e pensou naquilo. Ia morrer. Lançara mão de todos os recursos. Gastara todas as economias. No entanto ia morrer... estava morrendo devagarinho.
Na luz lívida do quarto seus olhos olhavam, cheios de pavor.
Lá pelo fim da madrugada Amaro teve um sonho angustiante. Sonhou que era a máscara de Beethoven e estava pendurado na parede. Uma simples cara branca que pensava, via mas não tinha voz nem corpo. Pendurado na parede... Branco e frio e branco e frio...
Acordou. Viu o dia clareando. Lembrou-se do estudante que vira morto ao pé da escada. E sentiu um vago medo.
Depois de deixarem Inge e Anneliese em casa, Vasco, Olívio e o conde voltaram para o centro da cidade. Iam silenciosos e o conde estava impressionado com a palidez dos rapazes. Sentiu-se com obrigações de enfermeiro!
- Vamos tomar café?
Foram até um café do Mercado Público, onde a vida já àquela hora começava. Sentaram-se a uma mesa. Vasco apoiou os cotovelos nela e segurou o rosto com ambas as mãos. Estendeu o olhar e viu, lá no fundo, no espelho triste, a imagem dum homem de branco, com a cara quase escondida pelas mãos, um fez vermelho na cabeça. A princípio não se reconheceu. Depois se achou ridículo. Tirou o barrete turco, amassou-o e jogou-o longe.
Olívio acendeu um cigarro. Por alguns segundos nenhum dos três falou.
E, olhando para aqueles dois jovens aniquilados, o conde se lembrou das gerações que saíram estragadas das trincheiras e se atufaram funda e furiosamente no gozo, fazendo tudo para esquecer o pavor da guerra. O diabo era que aqui não tinha havido nenhuma guerra...
Lá fora, fresca e clara, a manhã despertava leve e sem memória como uma criança saindo dum sono sern sonhos.
Naquele dia os jornais estavam cheios de notícias sensacionais. Um ciclone nos Estados Unidos derribara milhares de casas, matara centenas de pessoas. Uma miss desesperada atirara-se dum avião, da altura de dois mil metros, porque tinha sido abandonada pelo noivo. Fome na China, onde se matavam crianças para comer. Um desempregado suicidara-se, precipitando-se do alto dum arranhacéu de Chicago.
Vasco porém, só sabia de duas coisas: era abril e Anneliese tinha ido embora... O mundo parecia doido. Ninguém encontrava rumo. Os jornais cheiravam a sangue e a cadáver. Mas - era absurdo, juvenil, vergonhoso - ele só não podia esquecer que era abril e Anneliese não estava ao alcance de suas mãos, de seus beijos...
Desprezando-se mais que nunca, Vasco saiu para a rua. O outono se mostrava no amarelão do sol, na névoa azulada que flutuava no ar fino, na tristeza das árvores.
Andar à toa... Sempre gostara dessas vagabundagens sem destino. Ah! Mas era preciso fazer alguma coisa, achar trabalho, ganhar dinheiro, ajudar as mulheres da casa.
Abril! Ele não podia esquecer. Passava os dias num estonteamento. Novas relações, caminhadas pela cidade durante o dia, encontros com Anneliese à noite. Andavam por cinemas, cafés e subúrbios. Terminavam a noite no quarto cor de pérola.
E agora que Anneliese estava longe, ele caia numa nova realidade, lembrava-se de seus amores como quem se lembra dum sonho bom e impossível, olhava em torno e tinha a impressão de mover-se num vácuo.
Ao caminhar pelas ruas levava consigo uma sensação de desamparo, malogro, decepção. Olhava para as casas, vitrinas, cartazes e tabuletas, olhava para as pessoas que passavam e em vão procurava achar um sentido em tudo aquilo.
Cruzou o céu um avião escarlate fazendo propaganda dum tipo de café. Vasco pensou em Anneliese e sentiu-se só e triste. Quis reagir. Entrou num café, bebeu um conhaque. Diabo! Tinha de deixar de beber, aquilo estava ficando um hábito. A culpa era daquelas noitadas no Cassino, com Anneliese. Sempre Anneliese! Pagou a bebida e saiu com a boca amarga, a cara amarga, a alma amarga.
Uma casa de sedas anunciava: ”GRANDE LIQUIDAÇÃO DE ABRIL”.
Lá estava de novo abril. Era outono. E ele tinha medo de abril, tinha medo do outono. Lembrava-se de Jacarecanga, das árvores da praça com as folhas cor de ferrugem a caírem como pássaros mortos. Chegava a ouvir ainda agora o crepitar macio das folhas secas que seus pés esmagavam nos remotos outonos da adolescência. A melancolia daquelas tardes de sua cidade natal! E os seus sonhos. As suas noites na pracinha deserta, ouvindo a cantiga dos sapos no lago de água esverdinhada, onde mosquitos zumbiam. A lua cheia no céu. As estrelas amigas. Aquele desejo morno no peito. A saudade de terras que nunca vira. E as serenatas de flauta e violão longe, nas ruas desertas. Abril! O silêncio mordido pelo canto dos sapos e dos grilos. Uma vontade inexplicável de chorar. Abril!
E agora um novo outono ali estava... o seu desejo de fugir de Jacarecanga se realizara. E ele se encontrava numa cidade estranha, de braços caídos, com o antigo sentimento de insatisfação, o mesmo desalento.
Sentado num banco da praça Vasco recordava a partida de Anneliese. O vapor se afastava lentamente... As hélices giravam, espadanando na água. Eram quatro horas da tarde e fazia sol. Uma bruma dum gris azulado pairava no ar. O rio era uma grande chapa de aço cheia de rebrilhes. Ao redor do navio boiavam largas manchas de óleo furta-cor.
Aflito, ele procurava... Homens e mulheres acenavam para a terra com lenços, chapéus, mãos espalmadas. Do cais, lenços, chapéus e mãos respondiam.
Anneliese! Lá estava ela de branco, com uma boina vermelha na cabeça, apertando contra o seio com a mão direita uma braçada de flores, a mão esquerda erguida no ar, segurando um lenço. Ao lado dela o pai, o velho Falk, gordo e corado, com a calva rosada e lustrosa brilhando ao sol, boné na mão, binóculo a tiracolo, sorrindo para os amigos que deixara em terra.
Vasco acenava também. Lá se ia a sua Anneliese. Dentro de um dia estaria no mar. Tomaria em Rio Grande um navio alemão que a deixaria na Europa em menos de quinze dias. Seus olhos se focavam no vulto branco. E ele já sentia saudade daquele corpo, do perfume daqueles cabelos...
Procurava fugir aos seus pensamentos mais íntimos, como quem foge a um amigo perguntador e indiscreto.
Voltou-se ainda uma vez. O vapor já ia longe. Enfiou as mãos nos bolsos das calças e saiu assobiando.
No meio da rua, entregou-se a si mesmo. De nada valia iludir-se. Ia sentir uma falta terrível de Anneliese.
E sentia ainda agora, passados quase quinze dias.
Lembrou-se do último encontro, da despedida. Reviu o quarto cor de pérola, os quadros e móveis com que já se estava familiarizando. Pela janela via as estrelas, suas velhas companheiras espantadas e longínquas. E depois, o calor de Anneliese, o perfume de Anneliese, a respiração quente e regular de Anneliese e o seu silêncio profundo, doce e penetrante, a maciez rija de suas carnes, aquele narizinho petulante, o rosto risonho, meio azulado à luz da lua. Ele quisera mostrar-se furioso, violento, insaciável. Revelara-se simplesmente sentimental, deixara escapar um suspiro e uma ou duas vezes ficara absorto, olhando para o céu da noite, já sentindo a falta dela. E depois, de madrugada, ao sair do quarto sentira uma angústia sufocadora no meio do grande parque adormecido. Lembrava-se do ruído de seus passos ecoando na rua deserta. A última noite! A última noite!
Vasco se ergueu e continuou a andar.
Passou por ele uma menina de vermelho. Quase o engoliu com os olhos pretos muito vivos. Era irritantemente bonita, dum bonito provocante que só convidava a pensamentos libidinosos. Vasco parou, voltou-se e olhou. Bela fêmea - contou a si mesmo.
Retomou a marcha, assobiando. O avião escarlate voltava soltando boletins que esvoaçavam ao sol como borboletas brancas. Vasco ergueu a cabeça. O céu era dum azul tão puro e alegre que ele não pôde deixar de sorrir.
Sim, era abril, Anneliese tinha ido embora mas a vida. continuava, o céu era belo, os aviões passavam, outras mulheres viriam para seus braços e ele ainda tinha vinte e dois anos.
Tornou a entrar num café.
- Um vermute.
Bebeu sem remorso. Saiu um pouco tonto. Levou a mão ao bolso e viu que lhe restava uma nota de cinquenta mil-réis. O seu último dinheiro. Não podia viver à custa das mulheres. Era vergonhoso. Era injusto. Precisava arranjar um emprego o quanto antes. Sim, havia de arranjar. Percorreria as redaçoes dos jornais, ofereceria desenhos. Olharia os anúncios dos diários...
De repente sua memória ouviu uma voz quase esquecida: Ruim como pai. Bêbedo como pai. Agora está vivendo à custa das mulheres.
Vasco procurou afugentar o fantasma. Pipocas! Nem depois de morto o homem o deixava em paz!
Saiu pisando duro, com orgulho. Anneliese tinha ido embora, mas havia outras mulheres. Ele era livre, homem sem dono e sem lei, senhor do seu nariz. Faria o que entendesse. Reviu mentalmente os olhares de admiração dos velhos companheiros de infância que o tinham como seu chefe e que lhe chamavam ”Gato-do-Mato”. Sim, ele era como o gato da história de Kipling, o gato orgulhoso e selvagem que andava sozinho por todos os caminhos...
Em princípios de abril, D. Clemência e a filha haviam alugado o andar superior da casa em que moravam Fernanda e Noel. Havia nele o número de peças suficientes. Sala de jantar, cozinha, banheiro, um quarto nos fundos para Vasco e um quarto na frente para as duas mulheres. com parte das economias que possuía, D. Clemência comprara num ferro-velho os móveis indispensáveis.
Clarissa sentiu uma certa alegria no dia em que começou a desencaixotar os tarecos que trouxera do casarão. Saiu a pendurar quadros pelas paredes, a distribuir bibelôs e vasos pelos cantos e depois, no fim dum dia trabalhoso, sentou-se num canto para olhar o seu ”corredor” que era ao mesmo tempo sala de visitas. Ficou parada, de olhos tristes. Uma decepção. Que mobília esquisita! O armário era preto e tinha uma porta rachada. A mesa era de madeira mais clara. As seis pobres cadeiras não pertenciam à mesma família, eram diferentes na forma e na cor. E os retratos antigos (avós e bisavós com ares tristonhos, roupas do século passado) aumentavam a impressão de tristeza, fealdade e sombra que havia no ambiente. Os olhos de Clarissa se encheram de lágrimas. Não que aquela história de móveis importasse muito... Mas é que o aspecto da sala lhe dava uma imagem exata da sua vida atual de pobreza e abandono. Oh! Se ao menos o pai fosse vivo! Mesmo com a sua aspereza, o seu gênio irritadiço, as suas esquisitices - como a presença dele teria melhorado a vida de todos! Seria pelo menos um companheiro, um homem. Pensou em Vasco e então as lágrimas começaram a brotar com mais força. Vasco não se importava mais com elas, andava arredio, não parava em casa, não olhava direito para ela, não lhe dizia mais de duas palavras por dia, e - pior que tudo!
- recolhia-se sempre muito tarde, à noite.
Como tivera esperança nele! Como o amava ainda!
Clarissa deixou o seu canto e foi para o quarto. Lembrou-se dos belos móveis laqueados de verde que tinha em Jacarecanga. Teve saudade deles ao ver a cama de ferro, a mesinha-de-cabeceira de pinho, o lavatório ordinário.
- Clemência entrou.
- Por que é que estás chorando, menina?
- Nada, mamãe, sou uma boba.
- Clemência também sentia um peso no coração. Agora na casa nova a sua impressão de solitude aumentava. Ao menos na pensão tinha a Zina, o Couto, os hóspedes, o barulho. Suspirou. Sentia saudade do marido. Fazia esforços para não se entregar ao desânimo, para não chorar e para não pensar no que lhes podia acontecer no futuro. Por que era que algumas pessoas sofriam tanto, ao passo que para outras a vida era tão fácil e feliz?
Saiu a espanar os móveis. Para dizer alguma coisa, falou da comida:
- Não achaste horrível a bóia, Clarissa?
- Também, mamãe, por dois mil-réis... comida de pensão...
Sentia ainda na boca o gosto do horrendo guisado com repolho. Resistira ao Odol, às balas que chupara, à água, a tudo...
Ficaram sombrias por alguns minutos. Mas de repente Fernanda entrou.
- Que cara é essa, companheira? - perguntou, rindo. Clarissa contou-lhe as mágoas. Fernanda soltou uma
risada. (Não tinha nenhuma vontade de rir: doíam-lhe os rins, o filho pesava-lhe nas entranhas, a tristeza em que Noel se achava lá embaixo lhe dava apreensões, o leiteiro insistia para que pagassem a conta atrasada.) Segurou Clarissa pelos ombros e contou:
- Olhe, sabe duma coisa? Juntando o que eu e o Noel ganhamos não chega a setecentos mil-réis. O Pedrinho não ajuda com nada, o que ganha mal dá para ele se vestir... Somos quatro pessoas: mas ninguém morre de fome. A vida é assim mesmo... Tem mais graça quando se luta.
E, para fugir ao assunto, perguntou:
- O Vasco como vai?
- Clemência retomou o tema triste, num suspiro:
- Ainda não encontrou emprego...
- Mas encontra - garantiu Fernanda. A mãe de Clarissa encolheu os ombros. - Por que não há de encontrar? É moço, é inteligente. O essencial é ninguém entregar os pontos.
Deu dois passos e segurou um bibelô:
- Olhem, este burrinho fica melhor ali em cima do armário. - Fez a mudança. - Por quanto compraram a mesa?
- Vinte e cinco - disse D. Clemência.
- Chii! Se me tivessem falado, eu conseguia coisa melhor por 15$. O meu judeu faz prodígios. Sabem quanto pago por mês da prestação dos móveis? Vinte mil-réis. Só o ”meu judeu” mesmo. É um rico velhote.
Aos poucos Clarissa e a mãe se alegravam. Passaram a falar em comida. Fernanda indicou uma pensão que dava comida boa e ”à bessa” por dois mil-réis. Depois D. Clemência contou mais uma vez a história de sua vida e Fernanda imediatamente, para escapar do assunto sombrio, perguntou se Clarissa não tinha um pretendente. Clarissa corou e fingiu que arrumava um quadro na parede. Fernanda contou-lhe dos trabalhos que estava fazendo para o filho, das lãs que usava, das cores que preferia...
- Mas acho que o meu bebê vai nascer nu... Está claro, todo o mundo nasce nu... mas quero dizer: vai continuar nu todo o inverno, porque o enxoval dele não está pronto. A culpada sou eu. Me descuidei... Depois, quando me lembrava, o mês era apertado e o dinheiro não dava... Estão vendo a desvantagem de ser do gênero humano? Se eu fosse uma ursa branca não precisava me preocupar: o ursinho nascia peludo e ia brincar no gelo...
Clarissa e a mãe riam, esquecidas das suas dificuldades e apreensões, dos móveis de segunda-mão, da casa feia e dos prováveis dissabores que o futuro lhes havia de trazer.
Clarissa saía todas as manhãs às sete para tomar o ônibus que a levava a Canoas. Já começava a gostar dos novos alunos. Canoas era bonito, com suas vivendas no meio de jardins verdes e floridos. Ouvia-se o canto de passarinhos. Um silêncio fresco envolvia as casas, as árvores e as criaturas. E ela se lembrava de Jacarecanga, dos seus alunos, recordava caras, gestos, vozes... E vivia na certeza consoladora de que dentro em pouco estaria habituada à nova vida, querendo bem à nova casa, aos vizinhos, às árvores e às crianças de Canoas, aos ônibus que a transportavam todos os dias e às lindas paisagens de campos e montanhas, arrozais e vilas, pontes e riachos que via durante o trajeto.
De volta à casa, já tinha prazer em rever o seu quarto feioso com tantos desenhos esquisitos feitos pela umidade na parede mal caiada e cheia de calombos. Gostava do seu quintal pequeno, com uma laranjeira no meio, uma parede de tijolos sem reboco no fundo, chão de terra batida. Gostava também dos quintais vizinhos: um gato cinzento e preto estendido no lombo do muro, um gordo galo branco com crista cor de lacre; roupas brancas e coloridas secando ao sol. Dos vizinhos conhecia já seu Orozímbo (de quem tinha muita pena), D. Mag (engraçada, não sabendo pronunciar o c e o g ) e Lu (que parecia não simpatizar com ela). Também conhecia Pedrinho, que achava muito petulante e D. Eudóxia, diferente de Fernanda como o dia é diferente da noite - uma velha choramingas, pessimista e desmancha prazeres. Conhecia também os vizinhos do lado esquerdo: Don Pablo Bermejo, um espanhol engraçadíssimo que vivia à custa da mulher, D. Mercedes. Mas de todas as criaturas que a cercavam, uma tinha importância real, era absorvente, impunha-se, superior a todas as outras: Fernanda. Quando ela entrava ali em sua casa, Clarissa tinha a impressão de que abria o sol e todas as nuvens escuras se evaporavam.
Ela sabia alegrar a gente, dar esperança. E como conhecia coisas! Tinha remédio para tudo, resolvia com rapidez os problemas e não se atrapalhava nunca.
Passando mentalmente em revista os seus vizinhos, Clarissa acaba esquecendo todos (principalmente daquele Noel triste e calado) para pensar com carinho em Fernanda. E via-a sempre sorrindo, azafamada, com o belo rosto claro de alegria, os grandes olhos cheios de compreensão, andando dum lado para outro com a sua avultada barriga, esquecida das próprias dores e dos próprios problemas, para pensar nas dores e nos problemas dos outros...
- Clemência também se entregava à vizinha. Admirava Fernanda, gostava dela. Era um recurso que sempre tinha à mão, um socorro pronto, um conselho firme. As vezes debruçava-se à janela dos fundos.
- Vizinha! Fernanda aparecia:
- Pronto!
- Me empreste um pouco de açúcar que o armazém está fechado e nós se esquecemos de comprar.
Lá subia o açúcar. Tinha inventado uma caçamba especial, um balde velho preso a uma corda. Por ela Fernanda mandava para cima ou recebia de cima as coisas de que uma ou outra casa tinha falta. Café, pão, agulha, o jornal do dia, banha, papel de carta...
Em D. Eudóxia D. Clemência encontrara uma aliada. Reuniam-se as duas a conversar, umas vezes na casa de baixo, outras na de cima. D. Mag reunia-se a elas. Faziam um coro de suspiros e queixumes. Depois, cada qual cantava em solo as suas desgraças. Cada uma se achava mais infeliz do que as outras duas. E cada vez se faziam mais unidas.
- Eudóxia contava segredos:
- Não vê que os pais do Noel são ricos, mas eles não queriam o casamento. ..
Falava nas aperturas do fim do mês, do pouco que o genro ganhava no jornal, dos sacrifícios de Fernanda, que parecia mais uma mãe que uma esposa. Queixava-se de que Noel parecia ter ”o rei na barriga”.
- Nunca vi! Não olha direito pra mim, não fala comigo. Imaginem, como se eu fosse uma negra, uma inimiga... uma nem sei quê... Nem gosto de falar... Ai de mim se digo alguma coisa! Às vezes fico pensando... O pai tão rico e o filho passando necessidade. Também a Fernanda tem culpa... Não quer que ele peça nada pro velho. Gesto de desalento. - É uma vida que só Deus sabe. O Pedrinho? Nem é bom falar...
E desandava a queixar-se do filho. Era maroto, gastador, tinha uma namorada, já frequentava a casa, pagara vinte mil-réís por uma gravata de seda.
As outras escutavam com caras fúnebres. Quando chegava a vez de D. Mag ela sacudia a cabeça de passarinho e encostava os dedos da mão direita no nariz:
- Isso não é nada. Finalmente todos os seus têm saúde; ’raças ao Altíssimo... E lá em ’asa? O Zimbo está nas últimas. Eu vivo aforismada. Não fosse a minha fé e eu não suportava. Uma des’raça nun’a vem só... A Lu. ..
Seus olhos entristeciam. A filha era desobediente, má, atrevida. Queria viver na pândega. Namorava um rapaz perdido com jogo e com mulheres. Queria cantar no rádio. Sentia-se atraída por tudo quanto era divertimento de satanás.
- É a mocidade! - dizia D. Clemência, lembrando-se de Vasco, que se recolhia de madrugada e parecia viver também na farra.
E as três mulheres cochichavam segredos, trocavam confidências, achavam-se desgraçadas e procuravam-se sempre que podiam para, num mistério, irem cimentando a sua aliança, a aliança dos velhos contra os jovens, contra a incompreensão ”dessa mocidade de hoje que só pensa em se divertir”.
Quando Fernanda via as velhas juntas, dizia sorrindo para Clarissa:
- O Grande Conselho está reunido. Temos barulho. Clarissa sorria.
Anoitecia, crianças brincavam na rua, o céu ganhava uma tonalidade vítrea, uma transparência esverdeada. Noel fechou o livro que tinha nas mãos e ficou à janela, pensando no mistério da vida.
O tempo passava como um rio sem nascentes que desaguava ... em que mar? A gente se deixava levar na torrente, voltava a cabeça para trás e via os trechos percorridos, alguns pontos com clareza, outros envoltos em nevoeiro ... E o mais inquietante era que às vezes zonas longínquas apareciam com uma nitidez luminosa, ao passo que regiões mais próximas se achavam veladas por uma cerração cinzenta e impenetrável. O rio não cessa de correr. E há o perigo de encontrarmos a cada instante o mar, o mar ainda mais misterioso e assustador.
Se pudéssemos ficar à margem, vendo o rio passar, sem nos deixarmos levar por ele, talvez pudéssemos desvendar um pouco do mistério da vida.
Noel examinava o passado, auto-analisava-se e surpreendia-se por chegar à conclusão de que a sua compreensão límpida e fácil das coisas abstraías, dos livros, da humanidade dos romances, do mundo da arte - de nada lhe servia na vida real. Ele se sentia só e desprotegido no meio da balbúrdia. Como um habitante da Terra em Marte. Como um peixe fora dágua. Estaria completamente perdido se não fosse Fernanda, a sua solicitude de todas as horas, a sua dedicação... Noel se lembrava duma prima que sofria de estranha doença nervosa. Não podia atravessar sozinha uma rua ou um salão. Tinha vertigens. Acabava caindo. Era como se estivesse atravessando uma pinguela sobre um abismo. Era assim que ele se sentia na vida.
Sem um apoio forte e contínuo, poderia cair.
E Fernanda tinha uma tão grande capacidade de compreender, um tal poder de adaptação, uma inteligência e uma sensibilidade tão agudas, que nas ocasiões oportunas, quando não o podia trazer para o mundo real, sabia vestir as roupas e falar a língua do mundo subjetivo que ele, Noel, vivia. E então a harmonia era absoluta. Falavam em livros, em quadros, comentavam música.
Mas lá se ouvia uma batida à porta. Era o rapaz do armazém com a conta. Ou o homem da prestação. O encantamento se quebrava. Fernanda se transfigurava. Era outra vez a dona de casa eficiente, ativa, enérgica. Ele ficava apavorado ante a transformação. Um dia assistira a uma discussão da mulher com o vendedor de frutas, a propósito de laranjas. Era espantoso! Ela esmiuçava, reclamava o preço, provava que as laranjas não valiam o que o homem pedia, citava espécies de laranjas, dava exemplos, contava casos - e tudo com uma tal força de convicção, uma tal energia agressiva, que acabava sempre vencendo.
Ele não podia fugir a um sentimento (de que no íntimo se envergonhava) de ridículo ao ver Fernanda com o ventre crescido, o corpo disforme a gesticular na frente do italiano das frutas, um sujeito vermelho como um tomate, de maus dentes e cara quadrada. Sim, Noel achava aquilo aborrecível, grotesco e ao mesmo tempo assustador. Julgava-se um traidor por ter tais sentimentos. Era uma injustiça, uma ingratidão, uma negação do espírito de tolerância e compreensão que devia existir entre ambos. Mas o seu agudo senso estético - que detestava as gravatas de Pedrinho, o jeito como D. Eudóxia comia, os chinelos de D. Magnólia e o câncer de seu Zimbo (felizmente invisível!) - se sentia ferido por aquela visão caricatural: uma mulher grávida a gesticular e a discutir. Ao mesmo tempo, ele se lembrava de que Fernanda era sua esposa, sua companheira, sua amiga e de que dentro do ventre dela estava o ”seu filho”.
Oh! Como gostaria de viver no mundo real, descuidoso, aceitando a vida como Fernanda a aceitava, como Vasco, aquele rapagão lá de cima, parecia aceitar também! A sua tortura era aquela mania de especular tudo, de querer ir ao fundo das coisas, de revoltar-se contra o que lhe parecia injusto ou errado, de querer descobrir uma finalidade nos menores gestos, nas mais simples palavras. A vida não podia ser gratuita. Os contos de fadas com que lhe tinham envenenado (agora ele podia usar o termo envenenado) a infância, tinham uma moral. O mau era castigado e os bons premiados. Tudo se passava num mundo harmonioso, justo e belo. O mundo que muitos anos depois, já adulto, ele reencontrara nos desenhos animados. Uma sinfonia colorida de Walt Disney dava-lhe um prazer indescritível.
Ele aceitava aquele universo maravilhoso e absurdo, em que os animais falavam e a fábula da formiga e a cigarra oferecia uma moral muito mais amável: a cigarra era recolhida pelas formigas que lhe davam agasalho, comida e ainda por cima permitiam que ela continuasse a cantar. No mundo dos desenhos animados, as coisas da Natureza ganhavam vida e alma, as árvores tinham braços para proteger os meninos perdidos na floresta, os pássaros cantavam para fazer os bebês dormirem, a fada boa dava asas ao ratão que queria ser passarinho. Depois acendiam-se as luzes ... O cinema enorme ... A presença desagradável das outras criaturas... E a vida com toda a sua brutalidade, as suas pequenas e grandes incoerências, os seus conflitos, os seus perigos e a sua pasmosa, assustadora gratuidade.
Noel pensou no jornal, no seu sacrifício cotidiano. Via na redação coisas incríveis. Apareciam pais comovidos e assustados, pedindo notícias de filhos menores desaparecidos. Lembrava-se duma pobre velha malcheirante que fora contar a história desgraçada duma neta de quatorze anos violentada por um preto. Ficara sentada na redação, cercada de repórteres. Ele, Noel, ouvira a história narrada entre soluços, vira a cara enrugada, os olhos viscosos, a boca sem dentes da pobre criatura. E o mau cheiro que aquele corpo murcho e sujo despedia impediram que ele sentisse piedade. Chegou a odiar a velha. E odiou-se por tê-la odiado. Mas era impossível sentir compaixão por uma criatura daquelas. E, enquanto os repórteres escutavam e estenografavam a narrativa, ele ficara ajaensar na sua incapacidade de compreensão para com a miséria alheia.
Sim, porque uma fita de Carlitos lhe arrancava lágrimas, lhe causava um espedaçamento interior. Lembrava-se de ”Luzes da Cidade”. A cena em que a ceguinha, recuperando a visão, descobre que o seu protetor dos tempos de cegueira não era, como ela sonhava, um príncipe encantado, mas sim aquele sujeito melancólico, de bigodinho e chapéu-coco, calças remendadas e sapatões cambaios aquela cena fízera-o sentir uma grande pena de Carlitos, do pobre vagabundo sem amigos e sem dinheiro, só, no meio da grande cidade de homens egoístas.
E ali, olhando a velha e ouvindo a sua história dolorosa e mal contada, ele compreendia que a tragédia de Carlitos o comovera porque era uma tragédia estilizada, asséptica, sem cheiros. E, além de tudo, ele vira desenrolar-se o drama do vagabundo sentado numa poltrona do melhor cinema da cidade, sentindo o perfume fino e agradável que vinha da mulher bem vestida que estava a seu lado. Depois, o drama de Carlitos fora inventado por Charles Chaplin, com o fim de conseguir, com elementos de verossimilhança, um efeito artístico. E as tragédias reais da vida simplesmente não tinham sentido, não tinham finalidade nem beleza.
Noel tinha de aturar o jornal porque era o seu ganhapão. Quisera desistir, fugir, arranjar outro trabalho, procurar o pai. Não fazia nada disso por causa de Fernanda. Temia às vezes chegar um dia a odiá-la por isso, passando a ver nela, não mais a companheira e esposa, mas a guardiã inflexível, a tutora rígida.
Os livros, longe de o ajudarem, contribuíam para que ele mais se apegasse ao seu mundo impossível. Lia de preferência novelas de autores ingleses que amavam as janelas abertas, os week-ends à beira do mar, os cottages entre árvores e o banho diário. Nunca encontrava nos seus romances prediletos (por isso eram eles prediletos) um operário sujo que passa fome, uma mulher desgraçada, um homem inválido, uma criança abandonada. Ao contrário, só via lords, ladies e misses limpos e louros - seres que tomavam chá e iam para a índia, voltavam da índia e tornavam a tomar chá, no mais feliz dos mundos.
com os olhos quase cerrados Noel pensava... Cessara a algazarra das crianças. Acenderam-se as lâmpadas da rua. Faiscavam as primeiras estrelas. E ele se admirava de ninguém ter vindo perturbar a sua meditação. Fernanda estava no andar superior. Pedrinho ainda não chegara do trabalho. D. Eudóxia decerto se achava no seu canto da cozinha, como uma gata borralheira que se nega a ser princesa, que há de sempre querer ser gata borralheira para poder gozar a volúpia da desgraça, para que os outros vejam que ela é infeliz.
Por causa da sogra, ele não se sentia num lar. Tinha a impressão de ser um estranho sob aquele teto. Havia poucas peças na casa. A cada passo se encontrava o fantasma de xale, a resmungar lamúrias. À mesa D. Eudóxia comia feio, deixava cair grãos de arroz pelos cantos da boca, mergulhava em longos silêncios no fundo do qual ele lia um ressentimento permanente contra a sua pessoa; silêncios que, traduzidos em palavras, queriam dizer isto: Por que não vais pedir dinheiro pro teu pai que é tão rico?
Ah! Que esforço desesperado fazia para aceitar a vida, guiado por Fernanda! Sujeitara-se a tudo. Procurara interessar-se pelas conversas de D. Mag e do marido, pelos assuntos simples e domésticos, pelas coisas práticas. Procurava em vão encanto numa paisagem de fundo de quintal. Aceitava perfeitamente o bucolismo na poesia. Mas um galo cantando à tardinha em cima duma cerca de madeira podre, num pátio pobre e sujo, dava-lhe uma tristeza inexplicável. Procurava também ler autores que escreviam romance em que a vida se mostrava nua sem a vestimenta ilusória das palavras. Jogava-os longe às primeiras páginas.
E tinha momentos de dúvida e de quase revolta. Por que não ficar no seu mundo? Por que não ter essa coragem? Que o deixassem em paz! A vida era incongruente. Tinha elementos de beleza mas não era bela. Ele se negava a aceitá-la. Ficaria com os seus pensamentos, com os seus sonhos. Mas o leiteiro batia à porta com a conta. D. Eudóxia queixava-se da falta de um frigorífico. Fernanda falava no enxoval do filho, parado porque não sobrava dinheiro para comprar lã. Ele tinha de ir para o jornal, cavar os magros trezentos mil-réis mensais.
Quando se lembrava do seu diploma de advogado, sentia vergonha.
Tinha momentos de depressão, de desalento. Só a música conseguia alisar-lhe os nervos. Debussy. Ravel. Beethoven. Mas Pedrinho vinha com seus discos horrendos: músicas de carnaval, sketches com palhaçadas. D. Eudóxia tinha um disco predileto: A Casa Branca da Serra. Fernanda preferia música mais vibrante, Wagner, Mahler. Dizia que Chopin deprimia, amolecia, quando todos precisavam de coragem e estímulo.
De repente, no princípio duma noite que prometia ser calma, surgia D. Mag chorosa, pedindo a Fernanda que fosse ”apaziguar a filha”. E lá se ia Fernanda. D. Eudóxia ficava a queixar-se, a dizer que Fernanda podia adoecer por andar dum lado para o outro, que o filho podia nascer morto ou torto. Oh! Como aquela velha gostava de antecipar desastres!
Noel ouviu um ruído no fundo da casa. Passos surdos. Devia ser a sogra. Sem se voltar, ali sentado à janela, ouviu o ruído aproximar... Ficou tomado dum certo molestar, como quem espera ser apunhalado pelas costas.
Os passos se fanaram. Noel sentiu um alívio.
Pensou no filho. (Tinha ouvido choro de criança numa das casas próximas.) Seu filho, filho de Fernanda... Uma alegria desconhecida o invadia quando ele pensava na criaturinha que se estava formando no ventre da companheira. A ideia de ser pai lhe dava uma sensação estranha, ao mesmo tempo doce e perturbadoramente aflitiva. Tinha medo dum aborto, dum parto infeliz... Às vezes assaltavao a ideia horrenda de que o bebê pudesse nascer aleijado. Oh! Seria o maior, o mais hediondo dos castigos. Deus, Deus não havia de ser tão cruel.
Deus... Sim, ele pensava em Deus, ele acreditaria em Deus... Faltava tão pouco... Se tivesse a certeza absoluta da existência de Deus, então tudo ]mudaria na sua vida. A absurda gratuidade da existência desapareceria, a moral dos contos de fadas teria realidade e o prêmio final compensaria todas as dores e misérias do mundo. Ah! Se ao menos ele tivesse a certeza! Quantas vezes se havia interrogado a si mesmo no silêncio do quarto, noite alta. Deus existia? Havia momentos em que lhe parecia sentir no rosto o hálito quente do Todo-Poderoso. Era quando ouvia as suas músicas prediletas, quando esquecia a casa, os aborrecimentos que o cercavam. Ficava de olhos fechados. Apagavam a luz: e o vulto de D. Eudóxia e até mesmo a silhueta de Fernanda se anulavam na sombra. Os violinos gemiam uma frase longa, arrebatadora e ele se sentia transportado aos céus, subia carregado por mãos invisíveis, estava prestes a atingir a compreensão de Deus... Mas alguma coisa acontecia. Um pigarro. Um miado de gato. Um buzinar de automóvel. Ele rolava das alturas, sentindo dor, mas dor física. Ficava, no entanto, com a certeza de que aquela frustração não era uma negação da existência de Deus. Deus decerto existia. Não tinha culpa de que os homens não fossem suficientemente límpidos e leves para se elevarem até Ele.
Se ao menos houvesse milagres...
Ruído duma porta que se abre. Noel sobressaltou-se. Voltou a cabeça, rápido.
- Sou eu, Noel, Fernanda.
- Ah!
- Tive uma tontura no corredor... - disse ela, procurando dar às suas palavras um tom.
- Ah!
E depois pensou: Uma tontura... A gravidez... O bebê... Que teria havido? - Desejou levantar-se, solícito, fazer perguntas à mulher, acariciá-la. Mas uma força misteriosa o prendia à cadeira. Era odioso. Era desumano. Mas era... Continuou sentado. Fernanda foi à cozinha tomar um copo dágua. Quando a viu de volta, Noel perguntou:
- Estás melhor? Foi o mais que pôde fazer.
Fazia um calor abafado naquele dia. Vasco chegou a casa à tardinha. Encontrou Fernanda no corredor.
- Alo!
Ela respondeu, alegre:
- Olá! E então?
Já no quarto degrau, Vasco parou. Procurou fazer cara alegre para dizer:
- Nada, não encontrei nada.
Parada à porta de sua casa, Fernanda olhava para o rapaz. Via-o suado, lustroso, com o ar cansado e adivinhava a luta que ele mantivera durante o dia em busca dum emprego.
- Mas não está desanimado, está? - perguntou, num tom de desafio.
- Você acha?
Tratava-a de você. Gostava dela, de sua coragem, da maneira como ela atendia ao ”pessoal de cima” (Fernanda, Noel e os outros eram o ”pessoal de baixo”). Um dia chegara quase a fazer-lhe confidências, a contar-lhe suas aventuras com Anneliese. Via-a tão humana, tão sem preconceitos, tão profundamente compreensiva... Depois a gravidez lhe conferia um ar de maternidade, tornava-a mais velha, transformava-a num ser que parecia destituído de todas as paixões do mundo. Por isso ele tinha confiança em Fernanda. Sentia que lhe era mais fácil fazer confidências a ela do que a Clarissa.
- Não acho. Não desanime. Mostre o seu muque!
- Sou bugre de Nonoai - troçou Vasco, lembrando-se vagamente do mulato desaforado que naquela tarde, em Jacarecanga, lhe fora levar o recado do Gen. Campolargo. De repente, mudando de tom, perguntou: - Como vai o Noel? Ainda abichornado?
- Sempre abichornado - confirmou Fernanda. Mas hei de dar um jeito nele. Espere só mais uns tempos.
Ficaram sorrindo um para o outro em silêncio. E ela começou a ver a canseira e uma ponta de tristeza no rosto do rapaz. E quando Vasco percebeu que ela o estava ”lendo”, ficou desconcertado. Disse: ”Bom...” e subiu.
Clarissa recebeu-o de olhos arregalados. Era toda ela uma interrogação. Vasco compreendeu e deu a resposta:
- Nada.
- Clemência ouviu e suspirou.
O rapaz entrou em seu quarto, tirou o casaco e estirou-se na cama.
Estava exausto. Caminhara a tarde inteira no sol. Lera um anúncio que pedia um empregado de escritório. Foi. Não arranjou nada. Era preciso saber alemão: ele não sabia. Na companhia de seguros não conseguira o lugar porque não sabia escrever à máquina. Era o diabo.
Correra os jornais mostrando desenhos. Só ouvira elogios: ”Formidável. Que perspectiva! Que expressão! Onde foi que aprendeu desenho? Que senso do volume! O senhor é daqui ou do Rio? Sim senhor!” Mas acabavam dizendo que não havia vagas, não havia verba.
Depois a rua. O sol nas pedras, nas fachadas das casas, nos automóveis, nos trilhos. O abafamento. O céu carregado. As vidraças chispando.
Vasco agora se lembrava de caras. Um homem calvo e calmo dizendo:
- Não temos vagas presentemente. Um porteiro antipático aconselhando:
- É melhor o senhor não insistir... Um cartaz: ”Não há vagas”.
E sempre a rua, e o calor, e o sol, e as reverberações, o barulho dos bondes, as calçadas cheias de gente. E a impressão desagradável do suor escorrendo pelo rosto, empapando a camisa, entrando pelos olhos.
Vasco pulou da cama, apanhou roupas e uma toalha e foi meter-se debaixo do chuveiro. Saiu do quarto de banho assobiando. Enfim, Roma não se fez num dia. Se não encontro hoje, encontro amanhã... ou depois.
- Como vai a tua gurizada de Canoas? - perguntou ao passar pela prima.
- Bem. São muito bonzinhos.
- Essa história de ir todos os dias de ônibus é que é um buraco, não?
- Acostuma.
Ela contemplava o primo com ternura. Via-o no quarto enxugando a cabeça, assobiando, agitando os braços. Lembrava-se dos tempos do casarão, quando ele era o Gato-do-Mato. Parecia que tudo tinha sido um sonho... Já não brincavam mais. Tinham ficado ”grandes”. A vida agora era séria. Estavam pobres. Não havia mais lugar para a despreocupação.
Vasco penteava-se. Na frente do espelho, lembrou-se do conde.
- E o conde!? - perguntou. - Faz séculos que não vejo essa figura.
- Tia Zina esteve aqui ontem e contou que ele se mudou para o Grande Hotel.
- Opa!
- Diz que agora tem muitos alunos...
Vasco pediu licença e fechou a porta. Ia trocar de roupa.
Com o torso nu, andou no quarto dum lado para outro. Vestiu a camisa e, abotoando os punhos, foi até a janela. Viu dali a casa do vizinho. Lá estava Don Pablo Bermejo em mangas de camisa, sentado à mesa da sua sala de jantar. Um homem que chamava a atenção. Cabeleira romântica. Moreno queimado. Sobrancelhas que lembravam as de Nick Winter. Vasco conhecia-lhe a crônica. Don Pablo não trabalhava, vivia à custa da mulher, que o adorava e admirava. Havia doze anos que estava no Brasil e negava-se a falar português.
Vasco admirava a cabeça do espanhol. Dir-se-ia uma alta personalidade, um grande escultor, um grande pintor, um grande escritor, um grande político. Don Pablo batia palmas e dizia:
- A ver! A ver! A ver!
Tinha uma voz dramática, levemente áspera. Cantava no banheiro com voz de barítono e fúria operática.
- A ver! A ver! A ver! - repetia ele, batendo agora na mesa com as mãos espalmadas.
Quatro garotos se achavam enfileirados do outro lado da mesa. Eram os moleques que vendiam nas ruas os doces e balas que a mulher do espanhol fazia.
Um por um, os quatro prestaram contas. Don Pablo discutia:
- Me quierem enganará No, no, no! Ustedes tienem que darme atención. Ustedes son unos tontos, unos tontos, unos tontos. Mer-ceedes! - cantou ele, demorando-se no cê.
Mercedes apareceu. Era uma mulher mirrada e grisalha, que mais parecia mãe do que esposa de Pablo.
- Que é que tu quê, Pablo.
- Mira Io que dice e se caballero! - apontou para um dos garotos. - Dice que lê dieron una moneda de dois mil-réis falsa. Será posible, será posible, será posible?
De sua janela Vasco olhava e gozava. Era espectador clandestino dum teatrinho muito íntimo. Pena era que perdia a maioria das palavras.
Sentou-se na cama e calçou as botinas. Ouviu a voz de Don Pablo cantando no pátio:
- Dicen que no nos quere-mos porque no nos veen hablar.. . Mer-cee-des! - continuou, sempre cantando. Vá llover!
Vasco olhou o céu. Nuvens escuras e baixas. Começava a ventar forte. No pátio vizinho Don Pablo Bermejo, sempre em mangas de camisa, olhava para o alto. Ergueu o braço para o firmamento, numa provocação.
- Si Dios existe, - berrou - que me caiga un rayo en el cráneo!
- Credo, Pablo! - gritou horrorizada a mulher, aparecendo à janela.
Don Pablo voltou-se para ela com ar importante. Estava radiante, soberbo. O vento lhe revolvia os cabelos longos e finos. Ele se sentia imenso. Tinha desafiado Deus.
Chovia.
Lu estava irritada. Se não chovesse, poderia passear na calçada. Se fosse passear na calçada, encontraria Olívio, como haviam combinado. Mas chovia!
E, incoerentemente, ela culpava o pai e a mãe da chuva.
Estavam os três na sala maior da casa. O pai no seu canto. A mãe encurvada pedalando a máquina de costura. Lu folheava revistas, mas folheava sem ver. De quando em quando ia até a janela, apertava o nariz contra a vidraça, ficava olhando para fora na esperança de ver o vulto querido ou o lampejo da baratinha cinzenta. Mas a rua estava deserta (horrível morar em rua pobre!) só via a chuva, as calçadas úmidas, o reflexo das luzes nas pedras,
Lu não gostava de olhar para o pai. Estava cansada dele. Sabia que aquilo não era direito, era maldade sentir assim. .. Mas estava cansada daquele eterno cheiro de remédio, daquele homem grande e inútil atirado ali no canto, com a respiração tão forte que se ouvia do outro lado da sala; daquele homem amarelo que a qualquer minuto podia morrer e que, vivo ou morto, sempre seria um empecilho à felicidade dela.
Orozimbo contemplava a filha. E compreendia... Lia censura e ódio nos olhos dela. E aqueles olhos eram os seus, revelavam o mesmo apetite que ele sempre tivera pela vida. Ele compreendia. Vivera muito, vira muita coisa. De tudo que vira, possuíra e gozara, agora só restavam duas ideias dolorosas: a certeza de que ia morrer e de que a filha o odiava. Por que não deixá-la livre, para ela fazer o que entendesse? Não. A mãe não queria. Era religiosa, era puritana. Tinha as suas manias. Gostava de citar passagens da Bíblia. Por sua vontade a menina usaria vestido arrastando no chão, não iria a cinemas nem a bailes, não teria amigas ...
Orozimbo esqueceu a filha para pensar em si mesmo ... Viu-se moço, forte e admirado. Tinha boas roupas, os pais davam-lhe dinheiro. As mulheres o procuravam. E com que ardor ele as possuía! Era uma espécie de ditador da moda, usava fazendas de padrão esquisito, flores enormes no peito, bengalas com castão de ouro. Houve um tempo em que na cidade muito se falava nele, nos seus trajes, nas suas amantes, nos seus cavalos de corridas.
Lembrava-se do tremendo choque que sentira quando, mortos os pais, descobrira que nada restava da velha fortuna da família. Tivera de procurar trabalho. Foi o período cinzento de sua vida. Os amigos fugiram... Vieram dias de humilhações, de decepções...
No dia em que encontrou Magnólia, à saída dum templo protestante, foi como se um novo mundo se tivesse revelado a seus olhos. Ela não era propriamente bonita. Mas aqueles óculos lhe davam um ar de seriedade e singeleza, as suas roupas decentes e simples, o penteado e o jeito de andar eram qualquer coisa inédita e fresca para quem estava habituado com o espalhafato despudorado de certas mulheres do mundo.
Orozimbo lembrava-se da oposição dos pais dela e da paixão medrosa que Magnólia lhe votava. Nunca mais esqueceu a conversa furtiva numa esquina, rápida e aflita.
- Se papai e mamãe não ’izerem eu não me ’aso... Não fi’a direito ’onversar assim na rua.
- Mas tu gostas de mim, Magnólia, não gostas?
Ela saíra a caminhar apressada e vermelha, quase fugindo.
Meses mais tarde ele se vira diante do pai de Mag, um velhote severo que lia a Bíblia e queria para a filha um marido protestante ou pelo menos cristão.
- Seu Josias, eu juro que hei de fazer a sua filha feliz. Serei um marido exemplar.
Parecia mentira, mas Orozimbo tornava a ouvir a sua voz metálica e cantante de que tivera tanto orgulho antigamente e de que tinha agora tanta saudade...
Diante do pastor que os casara, ele se imaginara limpo dos velhos pecados. Unira-se a uma mulher boa e pura. Iam ser felizes. Que lhe importava o ganhar pouco? A felicidade não estava no dinheiro.
A lua-de-mel se passou alegre num chalé em Teresópolis. Junquilhos e madressilvas no jardim. Os medos e pudores de Magnólia eram infantilmente ridículos. Mas tudo aquilo para ele fora deliciosamente novo e inédito.
Depois veio o inevitável aborrecimento, tempos escuros, confusos, de má sorte e amargura. Ele nem se lembrava com clareza do que acontecera nos dois anos seguintes ao casamento. Só se recordava de que voltara um dia para casa, embriagado. Encontrara um amigo dos ”bons tempos, tinham ficado a conversar num café... Magnólia chorou. Ele deitou a cabeça no colo da mulher e jurou nunca mais fazer ”aquilo”. Mag lhe pediu que repetisse com ela o Pai Nosso e foram ambos dormir reconciliados.
Quando Luciana nasceu, Orozimbo teve uma das maiores alegrias de sua vida. Mas Lu ainda não tinha dois anos quando ele tornou a embriagar-se: Depois, nada mais o deteve. Do chope passou para as mulheres. Suas farras iam até o raiar do dia. O antigo apetite pela vida lhe voltava com uma ferocidade que o espantava e entontecia. E tudo se foi águas abaixo. Os preconceitos religiosos de Magnólia impediam-na de o abandonar. Apesar de todas as humilhações, de toda a miséria, de toda a sordidez. Depois, havia Luciana...
Um dia apareceu-lhe em casa o pastor da paróquia e, ao cabo de muitos rodeios, pregou-lhe um sermão. O cachorro! Orozimbo repeliu-o, indignado.
- Meta-se com a vida de sua avó! Não me apareça mais aqui!
E à medida que o tempo passava Magnólia ia ficando duma fealdade seca de solteirona. Ele a custo acreditava que chegara a estar um dia apaixonado por ela. Era espantoso ... A criatura perdia a feminilidade, envelhecia precocemente, mumificava-se.
Finalmente viera aquela coisa horrível... Primeiro pensou que fosse uma simples indisposição gástrica. com o tempo, piorou.
No dia em que o médico - a quem pedira toda a franqueza - pronunciou a palavra ”câncer”, ele sentiu um desfalecimento. Teve depois vontade de gritar. Esqueceu as mulheres e a bebida. Enfurnou-se em casa e, por meio duma dieta adequada e dum tratamento severo, procurou fazer parar aquela coisa que lhe crescia no estômago. Despesas de médico. De farmácia. Radiografias. Vagas esperanças. E o tempo passando. Magnólia trabalhando. Ele, inutilizado pelo medo, parado, apreensivo, chorando, entregue ao desânimo. As economias acabaram. O que lhes tinha valido até agora era a pensão que lhe pagava uma companhia de seguros de vida, cuja apólice Mag tivera o cuidado de não deixar caducar.
Quanto tempo fazia que ele estava ali naquela cadeira, sem coragem de sair, de ir à casa dos vizinhos ou simplesmente de tomar sol no pátio e na calçada? Não sabia. O tempo se dissolvia no próprio tempo e ele perdera a conta dos dias, dos meses, dos anos. Só tinha consciência era de que aquilo progredia, lhe ia comendo as carnes, as energias, as esperanças.
Orozimbo olhou para a mulher que costurava. Sim, a vida tinha caprichos monstruosos. Um dia os dois haviam sido felizes juntos. Ela era fresca, jovem e atraente. Ambos ainda continuavam a respirar, a viver. Mas onde estava aquela coisa imponderável que fizera dos dias do casal um paraíso? Onde?
Eram estes os pensamentos do homem que tivera no tempo de moço um apetite descomunal pela vida. Do belo gigante do passado, o que sobrava era aquela ”coisa” de forma vagamente humana que ali estava...
Se ao menos Luciana me quisesse bem - pensava ele.
- Se ela fosse carinhosa, se ela se aproximasse. ..
- Luciana! - chamou.
A menina teve um sobressalto:
- Não me chame de Luciana, já disse. Tenho raiva desse nome. Chame Lu.
Estava de sobrecenho carregado.
- Lu... - repetiu ele com docilidade.
- Que é?
- Vem cá.
Ela se ergueu, de má vontade, e aproximou-se do pai. Parou a dois passos dele, tão estranha, tão mal-humorada e tão fria que o doente não teve coragem de abraçá-la como pretendia.
- Que é que o senhor quer?
- Nada. .. Nada, minha filha.
Ela voltou para a janela. Ó Olívio! Por que é que não apareces? Se a gente ao menos tivesse um rádio, uma vitrola, uma coisa qualquer...
- Magnólia pedalava, pensava em Deus, no calvário, no céu, no inferno. Sentia dores nas costas.
No seu canto, Orozimbo chorava em silêncio.
De manhã bem cedo Clarissa saiu de casa e, como de costume, foi esperar na praça mais próxima a passagem do ônibus que a levava sempre a Canoas. As folhagens pingavam gotas que o sol incendiava. O ar estava fresco e límpido.
Não teve de esperar muito. O ônibus surgiu. Clarissa fez um sinal. O carro parou. Ela subiu. Encontrou quase as mesmas pessoas de todos os dias. Já cumprimentava algumas. O ônibus se pôs em movimento.
Nesse momento, de trás duma árvore surgiu um homem. Estava muito encolhido, com a gola do sobretudo erguida. Era Amaro. Olhou para o carro, viu-o sumir-se longe e depois começou a caminhar devagar.
Levava na mente a imagem de Clarissa, fresca e matinal. Notara que ela estava mais alegre que no dia anterior. O preto não lhe ficava mal. E que medo ele tivera de ser visto! Se ela desconfiasse de que todas as manhãs ele ficava ali escondido só para vê-la... decerto o julgaria louco ou atrevido.
Amaro censurava-se a si mesmo. Achava-se infantil. No fim de contas, tinha quarenta anos e Clarissa podia até ser. .. ser. . . sua filha - e por que não?
Mas, que diabo! Estava sem emprego. Estava sem o piano. Não tinha amigos. Era preciso uma compensação. Afogara tantos desejos, sufocara tantas paixões . .. Era justo fazer a si mesmo alguma concessão. Depois, o melhor de tudo era aquele segredo, aquele mistério. Ninguém sabia e ninguém havia de saber.
Os passarinhos cantavam nos ramos dos cinamomos. Ele se lembrou dum certo disco de gramofone. Eram infames aquelas valsas dos bosques vienenses, com acompanhamento de trilos de pássaros. Também é o que o público quer.. . Strauss e sambas. O público...
Seguiu pela mesma rua. Ia para o seu novo quarto.
Não era um palácio. Também, por quarenta mil-réis. ..
Fora-lhe difícil deixar a pensão. Custara-lhe dar a notícia a D. Zina. Ela arregalara os olhos, fizera cara triste:
- O senhor também, seu Amaro? Ontem, o conde. Hoje, o senhor... Que foi que lhe fizemos?
Ora... Não tinham feito nada, ele só devia favores, mas acontecia que estava desempregado e não via jeito de empregar-se tão cedo. O dinheiro acabava.
Amaro tornou a pensar em Clarissa. Ela tinha trazido um estímulo novo à sua vida. Mesmo que ela nunca viesse a saber de seu amor; mesmo que nunca mais ele se aproximasse dela - aquilo não deixaria de ser bom, suave, puro, talvez a melhor coisa da sua vida.
E ele sentia uma certa volúpia em amar em segredo, sem alarde, num amor cheio de renúncias, sem nenhum egoísmo. Enfim, se fosse mais moço, se tivesse um físico melhor, como Vasco, o primo, por exemplo. .. Mas ele tinha sempre presente na memória a cara que seu espelho lhe mostrava todas as manhãs. Não alimentava ilusões. ..
E no fundo de toda aquela timidez - ele o adivinhava sem querer aprofundar-se na certeza - residia uma desconfiança na sua qualidade de macho. Quando se via compelido a procurar mulheres, ia para elas com aquele horrendo medo de falhar, de expor-se ao ridículo, à chacota. E isso já era a derrota.
Chegou à sua rua. A casa era a verde, de dois andares. Subiu. Foi direito ao quarto. Encontrou no corredor D. Docelina, a senhora que alugava os quartos. Uma mulata gorda, de enormes seios, braços polpudos, cabelos já um pouco grisalhos.
- Boa tarde, seu Amaro. Então como vão as cosa?
- No mesmo.
Ela tinha uma voz melosa. Era duma- delicadeza, duma solicitude que chegava a desconcertar. Só havia na casa dois hóspedes. Ele, Amaro, e um velho asmático e neurastênico.
- Já percurou nos jornal?
- Já, D. Doce.
Ela contemplou o novo hóspede com simpatia. Era viúva e tinha um filho, mulatinho magro e efeminado de dezoito anos. Amaro achava-o viscoso, detestava-o.
Entrou no quarto. A cama de ferro, uma mesinha, um guarda-roupa (usava a pia do quarto de banho comum).
Contra a parede, o tabique que separava o seu quarto do quarto do velho asmático, a máscara de Beethoven. Da porta, Doce perguntou:
- Tem gostado do quartinho, seu Amaro? Não lhe farta nada?
E o seu carão bondoso, de ventas dilatadas e bochechas gordas se abriu num sorriso maternal.
- Não, muito obrigado. Não falta nada. Ela fechou a porta devagarinho.
Do outro lado o velho tossiu. Era funcionário público aposentado. Só no mundo.
Pelo corredor, o filho de Doce passou cantarolando com voz de mulher um tango argentino.
Amaro sentia uma tragédia qualquer no ar... Não sabia bem o que podia ser, mas o seu sexto sentido a pressentia. Por isso andava inquieto. Se arranjasse emprego, iria embora dali. Talvez para um hotel barato. Talvez mesmo para a pensão de D. Zina, que era tão boa.
Olhou em torno e sentiu falta do piano.
Maio chegou. Fernanda recebeu-o, comovida. Era o mês em que lhe nasceria o filho. Abril findara com um déficit de duzentos mil-réis: a conta do padeiro e a do armazém.
Um dia puseram-se a fazer cálculos. Ela pegou lápis e papel. Noel escutava esforçando-se por compreender, esforçando-se por se interessar:
- bom - disse Fernanda - vamos dizer que eu fique no hospital sete dias... Sete dias a quinze mil-réis... sete vezes cinco trinta e cinco, vão três ... Cento e cinco ... Vamos botar cento e trinta, pra não termos surpresas. Suponhamos que a parteira cobre cem: são duzentos e trinta. Digamos aí uns setenta mil-réis de medicamentos. .. Trezentos . .. Despesas miúdas: sessenta mil-réis. ..
Ficou -pensando. Noel estava longe. Imaginava-se já com o filho nos braços, um garoto que tivesse os olhos de Fernanda, a coragem de Fernanda... Em tudo aquilo só havia uma coisa horrenda: o parto. Por que Deus não inventara um meio mais simples, sem dor e sem sangue? Por quê?
- Sabes que a gente tem de dar dinheiro adiantado pra o hospital?
- Hein?
Noel olhou para a mulher, desamparado. Não tinha pensado naquilo. D. Eudóxia, que de longe os escutava, observou:
- Gente pobre não devia ter filho.
Fernanda sorriu. Levantou-se, foi até o quarto e voltou de lá com uma caixa. Abriu-a e mostrou. Tinha três notas de cem mil-réis.
- Donde foi isso? - perguntou Noel.
- Ora... Um mês a gente enforca uma conta, noutro mês enforca outra... E vai-se juntando . . .
Da casa vizinha vinha a voz de Don Pablo, gorjeando a Jota, de Falia.
Dicen que no nos quere-moos
- Esses é que são os felizes... - disse D. Eudóxia, amarga. - Homem vagabundo sempre encontra mulher burra que trabalhe por ele.
Por qualquer razão subterrânea Noel se julgou atingido pela observação da sogra. Corou. Don Pablo continuava a cantar.
Na casa de cima, abril não tinha sido propriamente um sucesso. com o seu ordenado Clarissa pagara o aluguel, o armazém, a luz, o leite, o pão, a pensão que fornecia comida, e mais algumas miudezas. E depois de tudo pago se vira, desolada e ao mesmo tempo feliz, com cinquenta mil-réis na mão. Feliz porque tinha pago todas as contas ... Desolada porque ficara apenas com cinquenta para passar o mês, para pagar as passagens de ônibus até Canoas, para o resto ...
Vasco, constrangidíssimo evitava as mulheres. Sentia-se numa posição inferior. Continuava a procurar emprego, a correr escritórios e lojas, a andar dum lado para outro o dia inteiro. Não encontrava, porém, nada. Não podia ajudar nas despesas porque seu dinheiro acabara. Quantas vezes sentira no calor da rua vontade de tomar um refresco e tivera de recalcar o desejo por falta de quatrocentos réis? Era incrível, mas não tinha mais vintém.
Havia dias em que acordava esperançado, saía assobiando, com ares de quem ia dominar o mundo. Atirava-se na busca com entusiasmo. Mas ia esfriando, esfriando até que, ao entardecer, caía no mais profundo desalento.
À noite saía, procurando as ruas mais desertas. Vinham-lhe pensamentos negros. Lembrava-se de Gervásio, de João de Deus, do negro Xexé, da avó, da mãe, de todos os mortos. Todos eles se haviam agitado como ele estava se agitando. De todos os seus sonhos, desejos, dúvidas, preconceitos, que restava? Uma lembrança muito fraca na memória de poucos... E corpos apodrecidos debaixo da terra.
Olhava para as estrelas. Não seria melhor fugir, deixar tudo, seguir à aventura? Não teria compromissos, não teria pátria, nem amigos, nem lei, nem nada. Um homem só caminhando sobre a face da terra.
Não. Não podia. Não devia. Pensava em Clarissa. Sentia responsabilidades de chefe da família. Precisava proteger as mulheres. Proteger... Mas se ele estava dormindo numa casa cujo aluguel elas pagavam, comendo uma comida que se comprava com o dinheiro delas?!
A noite não lhe dava consolo nem esperança.
Que fazer? Estava claro que devia persistir, continuar procurando emprego. Alguma coisa havia de aparecer.
Sem dinheiro, sem rumo, Vasco seguia pelas ruas caladas. Começava até a sentir saudade de Jacarecanga.
Mas seria a lama o seu elemento natural?
Esta ideia às vezes o atormentava o resto da noite.
Numa noite em que o Rev. Bell visitou Fernanda, Vasco apareceu à porta para pedir um livro emprestado a Noel. Fernanda se ergueu e convidou:
- Entre, Vasco. Quero apresentar-lhe um amigo. Vasco entrou, e viu-se diante do homem imponente
que encontrara à porta do Cassino na noite do primeiro baile de carnaval. Apertaram-se as mãos.
- É o Rev. Bell, Vasco, pastor metodista. Reverendo, este é o moço de quem lhe falei.
- Aaah! - fez o americano com a sua voz profunda e levemente trêmula.
Sentaram-se e houve um silêncio repentino. Vasco sentiu-se mal, como se tivesse interrompido uma palestra íntima. Fernanda socorreu-o.
- Estávamos comentando os jornais de hoje... - explicou. - O reverendo está espantado com a quantidade de crimes, roubos, desastres, fraudes...
Sentado muito teso na cadeira, o pastor escutava, de braços cruzados. Seus olhos cinzentos tinham uma expressão vaga, davam uma ideia de distância brumosa, de profundidade insondável. Vasco o examinava com interesse. Uma bela cabeça. O homem devia ter uma vontade de ferro: o queixo saliente e agressivo estava contando... O nariz lembrava um bico de águia e sugeria sagacidade; a boca apertada revelava inflexibilidade; os lábios finos e descorados denunciavam ausência de sensualidade. Mas podia ser - refletiu ainda Vasco - que tudo estivesse errado. A gente tem tantas surpresas ...
- Estivemos a perguntar - disse Noel com voz suave, como se não se estivesse dirigindo a ninguém mas a si mesmo, aos seus pensamentos - se em todos os tempos houve esta mesma corrida para o prazer, esta mesma loucura, esta. .. esta impressão de fim de mundo próximo... Os velhos falam com tanta ternura no ”tempo antigo”...
O reverendo rosnou um profundo ”aaah”, como se estivesse preludiando uma longa conversa. Mas apertou os lábios e calou-se.
- Houve tempos mais tranquilos - disse Fernanda, sentindo o filho mexer-se no ventre. - Houve épocas de relativa paz e bem-estar...
Vasco sorriu. Era como se Fernanda estivesse falando com a experiência dos sessenta anos. Ela continuou:
- Vejam os romances de Dicker«... Eles nos falam dum bom tempo tranquilo. A gente ri de Mr. Micawber...
Desculpe a minha pronúncia, reverendo... A gente se diverte com as esquisitices de Mr. Pickwick... Os problemas daquela boa gente de Dickens são primários... Caloteiros que vivem apavorados com a prisão de devedores... O bom, o mau, mas o bom e o mau absolutos, como se cada um levasse na testa um letreiro: Eu sou o bom, Eu sou o mau, Eu sou a mocinha, Eu sou o herói. Mas a verdade é que a gente adora Dickens, apesar de tudo...
- Não gosto de Dickens... - disse o pastor, que só lia os autores metodistas.
- Vejam um romance dehoje. Tomem Michael Gold...
- Ugh! - fez o reverendo. - Eu detesto Gold... Sei que é sujo demais. Impossível.
E acentuou o ò, distraído, na sua indignação.
Vasco observava Fernanda. Era admirável. Cuidava da casa, carregava um filho no ventre e os outros filhos mais velhos nas costas. Tinha tempo para ler e discutir livros. Menina de fibra!
- Estou com o senhor, reverendo - disse Noel. - Se arte fosse copiar toda a sujeira do mundo...
Fernanda saltou:
- Arte? Mas isso não é tudo, Noel! De que vale um romance com arte mas sem humanidade? O que importa é a humanidade.
- O que importa é Deus - afirmou o Rev. Bell com ar dramático. - Os novelas sem Deus... aah... (dizia ”aah” quando lhe faltavam os vocábulos) são culpados de toda essa dissolução de costumes... Estamos vendo... aah... por toda a parte os sinais dos tempos...
Voltaram a falar- nos velhos bons tempos. ”vou meter o bedelho na conversa” - pensou Vasco, que até então se mantivera calado.
- Bons tempos! Essa é boa... Fala-se que hoje em dia é que há imoralidade ... Pois sim... Sempre ouvi dizer que um tio-avô meu teve quarenta filhos... E era solteiro, note-se, era solteiro. ..
Fernanda soltou uma risada. O reverendo apertou os lábios. Noel corou. E Vasco, olhando de repente para o pastor, percebeu que tinha cometido uma gafe. Por um segundo ficou desconcertado. Mas vendo que a risada de Fernanda era uma garantia de apoio e aprovação, achou que devia continuar. Que diabo! se Fernanda, que era mulher, não se escandalizava, a troco de que ele havia de escolher palavras e assuntos para os homens?
- Uma irmã do meu avô fugiu com um palhaço de circo...
Era a maior das mentiras. Mal a enunciou, Vasco admirou-se de seu cinismo. Enfim, era divertido escandalizar o pastor.
- E o pior - continuou - é que ela era casada e o pobre do marido não se conformou com a história... Saiu pra matar o palhaço. Acabou também aderindo ao circo... Uma grande história.
O reverendo tossiu. Houve um silêncio curto.
Fernanda abriu um jornal. Mostrou a página das notícias sensacionais. Cabeçalhos berrantes. Desvairado por não ter comida para o filho pequeno, um pai o atira num poço e em seguida se suicida. - Uma cena pavorosa. A carta que o tresloucado deixou à Polícia.
O reverendo ergueu-se. Apanhou o jornal, apertou-o nas grandes mãos ossudas e brancas, sacudiu-o no ar e disse, teatral:
- Deus! Deus não perdoará este pai...
- Não faça mau juízo do seu Deus - observou Fernanda. - Ele não pode ser assim implacável...
- Para os transgressores de suas... aah... leis. Ele é implacável! Deu a cada homem um cérebro para to... aah... pensar... para escolher entre o bem e o mal... E mandou os seus ministros por todo o terá... aaah... para pregar o Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça.
- Quem está com fome fica surdo até mesmo à voz de Deus... - observou Vasco.
O olhar que Fernanda lhe dirigiu foi de agradecimento e aprovação.
- Jesus passou quarenta dias sem comer... - retorquiu o Rev. Bell -... but... mas satanás não sucedeu em tentando-o...
- Ele era filho de Deus - contraponteou Fernanda.
- Era filho do Homem - respondeu o pastor.
- Tinha certeza de que no fim estava com o céu garantido ...
- Oh! - fez o Rev. Bell, escandalizado.
- E esse pobre homem não tinha nem mesmo a certeza do pão do dia seguinte.
- Sois impossíveis! - exclamou o pastor. E caminhou até a janela, onde ficou por um instante. Voltou mais sereno e sentou-se.
- Well, well, well... - fez ele como que num começo de ato. - Esta é a casa sem Deus! Sorry. Tenho feito o meu melhor... aaah... Não sucedi. - Apertou os lábios.
- Mas não desisto. Eu também andei muito tempo perdido nas trevas do pecado...
Contou. Tinha vinte anos. Cursava uma universidade em Oklahoma e nas férias vendia magazines para juntar dinheiro para o ano letivo. Um dia bateu à porta duma casa modesta, num subúrbio.
- Magazines! Quer comprar magazines? - E começou a conversa de costume. - Sou um estudante pobre que...
Uma voz cortou-lhe o discurso:
- Faça o favor de entrar, jovem.
Ele entrou. Deu com um velho muito simpático que o convidou a sentar-se.
- Mostre-me as suas revistas, jovem.
Ele mostrou. Eram o True Stories, o Stage Scandals, o Secret Lives. O velho sacudiu a cabeça, reprovando:
- Revistas de satanás! Revistas sujas! Revistas indignas! Quanto custam?
- 25 cents esta... Aquela ali cinquenta...
- Pergunto todas as revistas que traz na bolsa... Ele fez a conta.
- Vinte dólares.
- Pois eu as compro todas.
Passou-lhe vinte dólares. O estudante estava surpreendido. Balbuciava agradecimentos. O velho chamou o criado:
- Leve estes magazines. Faça com eles uma fogueira no pátio.
Depois levantando-se, passou a mão no ombro do jovem Bell e lhe disse com voz calma e cantante:
- voung man, sabe que papel estava representando?
Érico Veríssimo
Pois era o papel terrível do emissário de satanás. Não se envergonha?
- Ora, mister...
- Sit downl
Ele obedeceu. O homem tinha um ar dominador, irresistível.
- Por que - perguntou o dono da casa - não aproveita a sua mocidade, a sua falta de respeito humano para trabalhar na seara do Senhor?
- Mas eu...
- O Senhor dos Exércitos precisa de soldados moços e fortes! Ajoelhe-se!
Bell estava atarantado. O tom de voz do dono da casa era tão convincente, que ele obedeceu. Ficaram os dois lado a lado, de joelhos, e ouviu-se a voz do velho.
- Ó Pai de Misericórdia, faze com que esta pobre alma pecadora entre no bom caminho, ouça a Tua voz e seja na terra um servidor da Tua santa causa. Amém.
Repetiu baixinho o Pai Nosso. Depois se ergueu sorrindo e disse:
- Promete agora que não vai continuar a vender revistas pecaminosas? Promete que vai procurar outro trabalho, vender... Bíblias, canetas-tinteiros, qualquer outro artigo limpo, decente?
Não custava prometer. O velho tinha comprado todos os magazines.
- Prometo.
E foi embora muito impressionado. Mas logo esqueceu tudo e continuou a vender as mesmas revistas. Um dia atravessou uma rua e, bem no momento em que ia oferecer a uma moça uma assinatura do Stage Scandals, um automóvel desgovernado apanhou-o, atirando-o com violência sobre a calçada.
Esteve vários dias entre a vida e a morte. No delírio de febre viu Jesus, viu o velho a quem prometera mudar de vida, viu Deus. Salvou-se por um milagre. Daí por diante sua vida mudou. Deixou a universidade e entrou num seminário. Alguns anos depois foi ordenado. Mandaram-no para a China, onde muito sofreu, passando privações e perigos. Esteve numa missão da Manchúria, que lhe pareceu
Um Lugar ao Sol uma sucursal do inferno na terra. Finalmente destinaramno ao Brasil.
- E cá estou eu... - terminou ele - e nunca... aaah... esquecerei o velho homem a quem devo o meu... aaah..., a minha conversão.
Um silêncio curto. Depois, sacudindo a cabeça, Vasco disse:
- O vosso Deus, reverendo, usa de métodos muito violentos ...
Rev. Bell arrasou-o com um olhar. Noel sorriu com tristeza. Fernanda foi à cozinha fazer um café para os conversadores.
- Hoje li Pascal... - disse Noel com ar vago.
- Inútil - comentou o reverendo. - Não gosto de Pascal...
- Já leu?
- Aaah! Para falar verdade, non li... but... aaah... mas tenho lido comentários...
- Noel - pediu Vasco - eu tinha vindo lhe pedir um livro emprestado.
- Que gênero?
- Tens Dostoiewski?
- Oh! - fez o reverendo.
- Não.
- Permita, jovem, que eu lhe ofereça uma Bíblia.
- Obrigado. Aceito com prazer.
Rev. Bell, de pé, erguia-se na ponta dos pés e depois deixava o corpo cair, num balanço ritmado.
Fernanda voltou com o café.
Depois de tomar o último gole, o reverendo perfilando-se na frente de Vasco, disse:
- Meu rapaz, está convidado para ir à Escola Dominical qualquer domingo destes. Peço-lhe, não recuse.
Vasco sorriu.
- Está bem. A que horas?
- Às dez.
Naquele momento D. Eudóxia apareceu à porta, saindo do quarto escuro. Vinha com os olhos piscos. Tinha estado a dormir. Cumprimentou os estranhos e prosseguiu na direção da cozinha.
O reverendo olhou o relógio.
- Ah! Dez horas. Minha esposa deve estar aflita. Well.
Levantou-se, despediu-se, ratificou o convite a Vasco e se foi.
Quando a porta se fechou, Vasco olhou para Fernanda e Noel e disse:
- bom número!
- Esplêndido! - concordou Fernanda. Noel:
- Eu o invejo. Ele tem fé. Nada do que lhe acontece de mal importa. Nem os bandidos da Manchúria, nem coisa alguma. Ele tem a certeza do céu.
Ainda sorrindo Fernanda explicou:
- É uma alma adorável. No fundo uma criança de cinquenta anos. ..Esses pastores americanos são duma candura que me comove... Imagine que o reverendo repete na Escola Dominical aquela eterna história de Washington, a cerejeira e a machadinha. E com seriedade, rapaz!
- Imitou a voz dele. - Quem foi que quebrou a cerejeira? Washington bateu no peito e falou: Eu fiz. Rapazes, um homem de bem não mente!
Risadas.
Vasco pegou o livro que Noel lhe deu e subiu. Fernanda começou a sorrir. Noel interrogou-a com os olhos: que era?
- O teu filho está esperneando.
Naquela tarde, ao voltar da rua, Vasco encontrou Clarissa chorando, muito pálida e D. Clemência estirada na cama, gemendo de dor.
- Que é que ela tem?
Os soluços trancavam a voz de Clarissa. Vasco aproximou-se da cama. D. Clemência se retorcia toda, com a mão direita à altura do estômago e a esquerda espalmada sobre os olhos.
- Que é que tem?
com a voz quebrada e fraca, ela respondeu:
- O fígado... Mas não é nada.
Clarissa, à porta, de olhos muito assustados, contou:
- Eu quis chamar um doutor, mas a mamãe disse que não era nada...
- Há quanto tempo ela está assim?
- Faz uns cinco minutos. Desde ontem que tem se queixado de indisposição.
Vasco ficou a olhar para D. Clemência, cujo rosto estava contraído. As dores aumentavam. E a despeito do esforço que fazia, de quando em quando lhe escapavam lamentos fracos por entre os lábios apertados.
- Mas é preciso fazer alguma coisa! Não se tem nenhum remédio em casa?
- Não é nada... ai!... me deixem... não é nada gemia D. Clemência.
As lágrimas rolavam pelo rosto de Clarissa. Ela nunca se sentira tão só no mundo. Simplesmente não sabia que fazer. Chamar tia Zina pelo telefone? Ou telefonar diretamente para qualquer médico?
Vasco passou a mão pelos cabelos num gesto de desamparo.
- E se nós chamássemos a Fernanda? Chamaram.
Fernanda subiu imediatamente. Aquela escada já lhe estava ficando um sacrifício. O bebê pesava terrivelmente: devia ser um rapagão gorducho - e esta simples ideia lhe dava coragem e alegria. Chegou arquejando à casa de cima.
Ao vê-la Clarissa caminhou para ela, abraçou-a, murmurou: ”A mamãe... está mui... muito doente” - e desatou a chorar como uma criança. Entregava-se. Sentia necessidade de amparo, do calor e da proteção duma pessoa mais velha, mais forte e mais experiente que ela.
- Que é isso? Não chore. Não é nada.
Acariciou a cabeça da outra e, desprendendo-se dela com delicadeza, caminhou para o quarto. Inclinou-se para a doente.
- Que é que está sentindo?
- Aqui... - gemeu D. Clemência, mostrando com a mão.
Fernanda olhou e disse com um ar eficiente de médico:
- Fígado. - Pausa. Depois: - Já tinha tido cólica assim?
Primeiro D. Clemência fez uma careta, sufocando um berro. Depois respondeu, quase desfalecida:
- Tão... forte como esta... nunca... Fernanda empertigou-se.
- Vocês têm bolsa de borracha?
- Não.
- É preciso comprar uma depressa. com gelo a cólica passa. O diabo é que a bolsa lá de casa está estragada, vasando. Vasco, vá comprar uma bolsa na farmácia, passe pelo café e traga gelo.
Dum salto Vasco saiu do quarto, correu pela sala de jantar e no minuto seguinte estava na escada. Desceu os degraus a toda a velocidade, sem pensar. Lá embaixo, porém, parou, ferido por uma ideia súbita. E o dinheiro?
Sempre o dinheiro! Num momento pensou em mil coisas. Pedir a Fernanda. Horrível! Pedir ao tio Couto: perderia muito tempo, o homem morava longe. Matar o primeiro burguês pançudo que passasse na rua e roubar-lhe a carteira. Tolice!.
Mas não podia ficar assim parado. Saltou para a rua e saiu quase a correr. Tinha a vaga ideia de que a poucas quadras dali existia uma farmácia. Encontrou-a. Entrou. Estava deserta. Bateu no balcão, impaciente. Não veio ninguém. Tornou a bater com mais força. Nada. Foi até a porta, esfregando as mãos, irritado, aflito, pensando na pobre mulher que estava em casa a retorcer-se de dor. Tornou a bater, quase com fúria. Apareceu lá no fundo um sujeitinho baixo de guarda-pó branco, um velhote de óculos, desdentado e encurvado. Veio com toda a pachorra, aproximou-se do balcão e olhou para Vasco com ar de quem queria dizer que ”aquilo não era bodega”.
- Tem bolsa de borracha?
- Tem - respondeu o farmacêutico com maus modos.
Voltou-se, sempre com calma, e foi até o fundo. Vasco lembrou-se mesmo em meio de toda a sua confusão do seu Nogueira, farmacêutico de Jacarecanga. Era um homem tão engraçado que um dia, tendo um freguês pedido um vidro de xarope Farnel, ele fora até a prateleira e voltara esfregando as mãos e dizendo: ”Sinto muito. Tenho só um vidro. Não posso vender senão ficamos desfalcados do artigo”. Oh! Mas que importava seu Nogueira e todos os boticários do mundo! Clemência estava sofrendo e precisava de uma bolsa de borracha. Mas que lhe diria o homem quando ele confessasse que não tinha dinheiro? Não importava. Vasco se sentia disposto até a estrangular o farmacêutico, se fosse preciso.
O homenzinho voltou trazendo uma caixa, que pôs em cima do balcão. Abriu-a.
- Temos estas, de 18$000, artigo muito bom. - Mostrou. - Estas são de 25$000, têm mais capacidade, artigo estrangeiro.
Sem pensar muito Vasco escolheu:
- Esta. Ligeiro, que estou com pressa.
O farmacêutico olhou o rapaz por cima dos óculos.
Molhou o polegar na língua, pegou um pedaço de papel verde e embrulhou a bolsa.
- Quanto?
- Vinte e cinco. Vasco segurou o pacote.
- bom. Eu não tenho dinheiro agora. É um caso urgente. Nós moramos ali perto, o senhor sabe? Ali no 430, nesta mesma rua. O senhor conhece o seu Noel? E a Fernanda? É urgente, está ouvindo?
- Não fiamos - respondeu secamente o farmacêutico.
- Mas é urgente. Deixei a doente se retorcendo na cama.
- Mas não fiamos.
Vasco ficou muito vermelho, sentiu um calorão no rosto. Enxergou em vez de um, dois sujeitinhos de guarda-pó branco, encurvados, pachorrentos e de óculos. O melhor era segurar o pacote e sair correndo. Pagaria depois. Mas a polícia . ..
Houve um instante de silêncio. Vasco adotou outra tática:
- O senhor então não tem confiança em mím? O farmacêutico encolheu os ombros.
- Eu nem lhe conheço...
O tempo passava. Não, o melhor era deitar a correr. Por que será que a gente vive sempre assombrado pela polícia? Por que sempre está medindo consequências, olhando as conveniências? Para o diabo a polícia e as conveniências! O melhor era azular...
De repente teve uma ideia. Tirou o relógio do bolso.
- Olhe. Este relógio é de ouro, custou mais de duzentos mil-réis. Deixo ele como garantia.
Depôs o relógio em cima do mármore do balcão.
- Moço, isto aqui não é casa de judeu...
- Sabe duma coisa? Fique com o relógio ou eu lhe quebro essa cara, está ouvindo?
Disse as últimas palavras quase a gritar. Fez meia-volta e saiu a correr.
Dentro de poucos instantes, estava à porta da casa. Que cabeça! Que coisa horrível! Tinha esquecido o gelo.
O gelo! Voltou correndo, suando, vermelho, excitado, com raiva de si e do resto do mundo. Entrou num café.
- Não tem gelo? Quero gelo!
O garçon apontou para o homem que estava atrás dum balcão.
- Fale com o patrão.
Vasco precipitou para o patrão, um tipo gordo, de cara lustrosa. Estava lendo um jornal.
- Eu preciso de gelo com toda a urgência. - Mostrou a bolsa. - É para um doente.
O patrão deu uma ordem ao criado, que abriu o refrigerador e encheu a bolsa com tabletes de gelo.
Vasco estava disposto a virar o café de pernas para o ar se não lhe quisessem dar o gelo.
- Quanto é? - gritou, agressivo.
O gordo, sem erguer os olhos do jornal, disse calmamente:
- Não custa nada.
E os três - Fernanda, Clarissa e Vasco - ficaram na varanda a conversar enquanto D. Clemência dormia, aliviada já de suas dores.
Fernanda censurava o rapaz:
- Por que não me disse? Não precisava fazer isso. Eu lhe emprestava o dinheiro.
Vasco folheava uma revista velha sem ver nada. Sentia-se deprimido, envergonhado, miserável. Por quanto tempo ainda se teria de sujeitar àquela situação? Os dias passavam e ele não arranjava emprego. Continuava sem níquel. com a sola das botinas furadas. Precisando duma roupa. Que fizera até então? Nada. Simplesmente vagabundeara pelas ruas, cheio de projetos e esperanças, para voltar à noite abatido e descoroçoado. Só Clarissa trabalhava e era o seu ordenado que sustentava a casa. Ele, um homem grande, forte e moço, vivia como um parasita...
Quedou-se num silêncio sombrio.
Fernanda também estava prostrada. Aproximava-se o dia do parto. Sentia dores. E um vago pressentimento de desgraça começava agora a inquietar suas horas. Tinha uma grande confiança na vida e em si mesma. A morte não a assustava. No entanto, a ideia de deixar Noel, Pedrinho e a mãe em desamparo era-lhe horrível. Ela sentia a grande separação que havia entre os três. Noel aborrecia a sogra e o cunhado. Por sua vez D. Eudóxia e Pedrinho não sentiam a menor simpatia por Noel. Não menos profundo era o desentendimento entre mãe e filho. Cada qual pertencia a um mundo diferente. E era ela, Fernanda, que tinha de estar constantemente servindo de elemento de ligação entre os três, fazendo o papel de quebra-mar, desdobrando-se em cuidados e providências a fim de tornar suportável a vida naquela casa. Se ela morresse, que iria ser dos outros? Noel teria de voltar para os pais, com quem a sua solidão seria ainda maior. O pai amava-o mas era um simplório, um pobre-diabo dominado pela esposa. A mãe era fria, distante e desamorosa, extremamente egoísta e preocupada com a sua beleza, e sua mocidade. Não! Noel precisava dela, Fernanda. E por isso aquele vago medo agora lhe frequentava as horas com uma insistência que já começava a ser perturbadora.
E como Clarissa também estivesse a olhar para os seus pensamentos tristes - os três ficaram ali na varanda num silêncio soturno.
Escurecia.
- Que fúnebre! - disse Fernanda, num sorriso forçado.
Não teve resposta.
Vasco ergueu-se e foi até a janela. Clarissa suspirou de mansinho.
- bom - fez Fernanda. - Deixem ela dormir agora quanto tempo quiser. Se as dores voltarem, botem mais gelo. Hoje o Dr. Seixas vem ver seu Orozimbo: a gente aproveita e pede pra ele receitar alguma coisa.
Vasco contemplava o céu. Uma faixa dum amareloalaranjado estendia-se no horizonte. Acima dela, um céu pálido, líquido, transparente, um nadinha esverdeado. Gato-do-Mato teve desejo de pintar. Quando tivesse dinheiro compraria tintas. O outono continuava lindo. Podia passar o tempo pintando. Talvez conseguisse vender algum quadro. Ficou olhando para fora. As lâmpadas da rua se acenderam.
Pedrinho chegou fazendo barulho, jogou o chapéu para cima da mesa, tirou o casaco e atirou-se numa cadeira.
- Ba! Que dia brabo!
Noel fechou o livro que estava lendo e com este gesto marcou o seu protesto tímido contra aquela invasão dos seus domínios, contra o menino turbulento que quebrava sua intimidade.
- Não tomo banho hoje - disse Pedrinho. - É muito tarde. Onde está a Fernanda? - Gritou: - Fernanda! Onde está a Fernanda?
Sem olhar para o cunhado, Noel respondeu:
- Lá em cima.
Com a ponta do pé direito Pedrinho descalçou o sapato do pé esquerdo.
- Estes desgraçados estão me apertando... Mamãe! D. Eudóxia apareceu a uma porta. Sempre fazia aparições assim silenciosas e súbitas, como de fantasma.
- Mamãe! Onde está a Fernanda?
Que idiota - pensou Noel - eu não disse que estava lá em cima?
- Eudóxia foi resmungando apanhar o chapéu que o filho atirara em cima da mesa. Depois pegou o casaco, que estava dobrado sobre o respaldo duma cadeira e levou-os para o quarto do rapaz.
Queriam acabar com a vida dela, queriam. Faziam tudo para contrariá-la. Era sempre assim. Os moços não respeitavam os mais velhos. Respondiam com maus modos. Inticavam. Contrariavam. Uma boba era Fernanda que se matava por aqueles dois ingratos. Uma boba. Ela também não se devia sacrificar.
- Estou com fome! - gritou Pedrinho. - Onde está a Fernanda?
Noel ergueu-se e foi procurar refúgio no quarto. Estendeu-se na cama, cerrou os olhos e tratou de esquecer. Pensou no jornal. O dia tinha sido aborrecido. Escrevera duas crônicas insatisfatórias. Vira de longe o automóvel do pai e sentira uma vaga saudade de outros tempos...
Agora tocavam música lá embaixo. Era a vitrola. Um disco humorístico. Um baile na roça. Insuportável. Diálogos caipiras, berrados, cretinos. Vacas mugindo. Burros zurrando. Galinhas cacarejando. E a música gemebunda duma gaita.
Fernanda entrou no quarto, aproximou-se da cama, sentou-se ao lado do marido, passou-lhe a mão pela testa:
- Sentindo alguma coisa?
- Não. Tu, como vais?
- Muito bem. Mentia.
Ficaram em silêncio, de mãos dadas.
E Noel naquele instante sentiu-se quase feliz. Se pudessem os dois viver sempre naquela penumbra, naquela serena intimidade (cessara a música do horrendo disco), calados, sem se fazerem perguntas embaraçosas, sem pensarem no que podia vir amanhã...
- Queres que acenda a luz?
- Não. Assim é melhor.
Silêncio curto. Depois Noel perguntou:
- Como vai ele?
- Esperneou o dia inteírinho.
- Sente dores?
- Quase nada.
- Não tens medo?
- Não. Novo silêncio.
- Olha! - fez Fernanda de repente. - Queres ver uma coisa! - Puxou a mão do marido, pô-la em cima do ventre. - Espera só... Vais ver como ele se mexe...
Noel esperou, comovido. Sentiu sob a palma da mão um movimento morno, um frémito, uma ondulação. Teve um calafrio.
E assim na sombra como estavam, mesmo sem ver o rosto da mulher, ele sentiu que ela sofria. Lembrou-se dos longos meses de gravidez, do enjoo dos primeiros tempos, das dores, das sufocações, das tonturas. Teve pena dela. E então, como nunca, compreendeu o que aquela criatura significava para ele, o que representava de ordem, tranquilidade e equilíbrio na sua vida. Apertou-lhe a mão com mais força. Era uma maneira muito tímida de agradecer. E ficou a perguntar a si mesmo se não seria ridículo, descabido, absurdo, piegas, puxar Fernanda para si, beijar-lhe a testa, o rosto, os olhos, as mãos. Lembrou-se, porém, dum romance que um dia lera. O herói, ao saber que ia ser pai, ajoelhou-se e beijou o ventre fecundo da esposa. Era de um ridículo atroz. E a lembrança dessa cena de certo modo deixou-o inibido.
Mas naquele mesmo momento como se tivesse compreendido que o marido precisava de conforto, de acalanto, de carícias, Fernanda
inclinou-se sobre ele. Pegou-lhe a cabeça com ambas as mãos e beijou-o na testa, nas faces, nos cabelos. Ao beijar-lhe os olhos, sentiu o gosto salgado das lágrimas. Achou prudente não perguntar nada.
Ergueu-se e disse com voz natural:
- vou servir o jantar. Saiu.
Noel foi o último a sentar-se à mesa. Pedrínho estava com a palavra: - ... e quem foi que disse? Ora bolas! Eles que falem. Não se pode ter namorada? Todo mundo tem... Esse negócio de casamento é besteira. Nunca pensei. Não sou trouxa.
- Eudóxia ergueu os olhos do prato:
- Eu não gosto de falar... Não sou ninguém nesta casa... Acham que estou caducando... Mas essa história de entrar na casa da moça é perigoso. É o mesmo que noivado. Pelo menos no meu tempo era.
- Ora! - fez Pedrinho, com a boca cheia.
Fernanda serviu Noel. Não tinha apetite. Ficou olhando fixamente para o irmão. Lembrou-se de outros tempos e se maravilhou da transformação. Que era Pedrinho um ano atrás? Um menino quase tímido, amoroso, obediente. Trabalhava durante o dia e estudava à noite, pensava em
formar-se em Direito ou Medicina. Mas de repente, da noite para o dia, se transformara. Ficara com fumos de homem, deixara crescer o bigode, passara a preocupar-se mais com as roupas, já fumava na frente da mãe, abandonara o estudo. Vaidoso, tinha resposta para tudo, era metido a sabichão, discutia marcas de automóveis e de rádio, cavalos de corridas, jogadores de boxe e de futebol, artistas de cinema e marcas de cigarro. Gostava de tomar ares de independência, uma atitude de quem estava permanentemente a dizer: ”Sou um homem, ninguém tem nada com a minha vida”.
Fernanda contemplava o irmão. Um franganito: magro, pálido, de olhos vivos, bigodinho fino e ralo. Sorriu com tolerância.
Restava na travessa uma última almôndega. Encurvados sobre seus pratos, D. Eudóxia e Pedrinho comiam. Começava a travar-se uma luta que não escapava à observação de Noel. De quando em quando mãe e filho erguiam os olhos para a travessa, namorando a almôndega. Apressavam-se a terminar o que ainda tinham no prato. Era um negaceio. Dois leões namorando a mesma presa. E quase ao mesmo tempo ambos estenderam o braço para apanhar a colher e tirar o bolinho. Pedrinho, porém, chegou primeiro.
- Não, mamãe. Pode servir-se. D. Eudóxia amarrou a cara.
- coma você.
- A senhora não quer?
O rapaz encolheu os ombros e não insistiu. Puxou o bolinho. Como protesto, D. Eudóxia cruzou Os talheres e afastou o prato.
Noel estava chocado. D. Eudóxia, sombria. E para alegrar o ambiente Fernanda comentou:
- Duas potências cobiçavam um pedaço de terra sem dono. A que chegou primeiro arrastou as fichas.
Pedrinho comia alegremente, como um vencedor.
- Banquei a Itália - disse. - Abocanhei a Abissínia.
- A mamãe está com a cara de Inglaterra - observou Fernanda, soltando uma risada.
- Eudóxia continuava carrancuda. Levantou-se.
- Que é isso, mamãe? Abandona a Liga das Nações? Não admito. E a sobremesa?
Noel não pôde deixar de sorrir. Sem voltar a cabeça, D. Eudóxia dirigiu-se para a cozinha.
Naquela noite reuniu-se a D. Magnólia e foi com ela visitar D. Clemência, que já estava sem dores. E as três se queixaram amargamente da vida. Censuraram os ”moços de hoje”. D. Clemência pensava em Vasco. D. Magnólia pensava em Lu. D. Eudóxia pensava na almôndega.
Um pouco para dentro do corredor, meio escondida atrás da porta, Lu abandonava as mãos nas mãos de Olívio.
- E por que não? Ninguém vê. Ela sacudia a cabeça.
- Não.
- Ora...
- Não.
- E amanhã? - insistia ele.
- Nem amanhã.
- Quando então?
- Outro dia.
- Então não gostas de mim?
- Gosto - afirmou ela, apertando com mais força as mãos do namorado.
Olívio estava excitado. Enxergava o rostinho de Lu à meia-luz. Lembrava-se dos beijos e dos apertões que lhe dera nos bailes do carnaval. Sentia saudade. E com os olhos devorava-lhe os lábios finos, o nariz delgado, o pescoço branco, a cabeça nervosa.
Não sabia explicar o que sentia por ela. Era uma atração feroz, uma vontade de apertar, apertar até matar... Nunca desejara outra mulher daquela forma. Lu era bonita? Ele nem sabia. Não queria saber. Queria aquela boca para beijar, queria a quentura daquele corpo. A pequena era boa e estava acabado!
- Agora vai embora - pedia ela. - Mamãe pode aparecer.
- Tens medo da tua mãe?
- Não tenho. Mas tu não sabes que coisa horrível é a minha vida. O papai chorando, a mamãe se queixando, o reverendo pregando sermões. Tu vais embora e não ouves nada. Mas eu fico e tenho de aguentar as cantigas deles. ..
Olívio tinha olheiras fundas e estava pálido. Farras pensou ela com ciúmes.
- Tens estado no Cassino? - perguntou.
- Uma ou outra vez.
- Tens jogado?
Ele hesitou por um segundo.
- Tenho. Por quê?
- Por nada.
Lu sabia que Olívio jogava como um demônio. Era um vício, uma doença. Corriam lendas a respeito do rapaz. Diziam que ganhava contos e contos de réis numa só noite, para perdê-los às vezes na mesma madrugada. Todo o mundo tinha pena dele e ao mesmo tempo uma certa admiração.
Silêncio. Olívio não achava assunto. O que ele queria era simplesmente o corpo de Lu. Olhou para os lados e, sem dizer palavra, entrou. Lu recuou dois passos. Os dois se viram ao pé da escada, no escuro.
- Não - cochichou ela. - Vai-te embora.
Ele não disse palavra. Abraçou-a com furor, beijou-lhe a boca muitas, muitas vezes, apertou-lhe os seios, as costas, as ancas, as coxas!
Lu já não protestava mais. Entregava-se, empurrada contra a parede. Os lábios de Olívio pareciam de fogo. E ela sentia no hálito dele um bafo de álcool. Mas que diabo! Não tinha direito a ser feliz? Esquecia tudo: o pai, a mãe, o reverendo...
Mas de repente um vulto escurejou na porta. Lu soltou um gritinho. Ouvindo ruído de passos, Olívio voltou-se de repente. Seperaram-se.
- Boa naite! - disse uma voz brincalhona.
- Boa noite, doutor.
- Jogando ioiô? Nenhum dos dois respondeu. O vulto subiu a escada.
- Vá embora, Olívio! - cochichou Lu.
O rapaz saltou para fora e sem se despedir saiu a caminhar apressado pela calçada.
- Entre, doutor. O médico entrou.
- Como vai o maricão? - perguntou.
Tinha uma voz vibrante e ao mesmo tempo rouca, que soava como a dum gramofone de diafragma partido. Era alto, vestia-se com desleixo, andava quase sempre com um toco de cigarro colado ao lábio inferior e a gola do casaco suja de cinza. Gostava de palavrões, de anedotas picantes e de escandalizar D. Magnólia, que o aborrecia mas que o tolerava porque, afinal de contas o Dr. Seixas era o médico da confiança do marido e principalmente porque o Dr. Seixas nunca lhes mandava conta.
- Onde está esse Jeremias? - tornou a berrar o médico.
Com largas passadas aproximou-se de Orozimbo. Estendeu para o doente a grande mão peluda, com as pontas dos dedos amareladas de nicotina.
- Como vai a vida, homem?
- Ora, doutor, vou aqui me acabando aos pouquinhos.
- Acabando nada. - O médico coçou a barba grisalha e descuidada. - Acabando nada! Você é um covarde, se entregou. Isso não dói. Não incomoda...
Sentou-se. Tirou do bolso uma palha de milho e a bolsa de fumo. Pôs-se a enrolar um cigarro.
O doente contemplava-o com olhos que imploravam. Sempre tivera confiança no Dr. Seixas; esperara dele milagres. Os milagres, porém, não vieram. Agora não havia mais esperança. Ele sentia crescer no estômago aquela coisa horrenda que se alimentava da sua vida. E ainda por cima o Seixas troçava, contava anedotas, mangava com ele...
- Hoje estou pior que ontem - gemeu Orozimbo.
- Pior nada! Pior coisa nenhuma! Você precisa é duma boa amante. Huá-huá-huá.
O Dr. Seixas soltou a sua risada bandalha, a risada aspirada, largada, irreverente que coroava todas as suas anedotas - as suas ”porcas anedotas” como dizia D. Magnólia.
- Seixas, e se a gente tentasse outro tratamento?
O médico sacudiu a cabeça. Ele sabia que tudo estava perdido. Agora o verdadeiro era esperar o fim. Podia injetar morfina no desgraçado para aliviar-lhe as dores. Fazer novas aplicações de rádio seria perder tempo e dinheiro. Ficou olhando para o doente. Não lhe dava mais de seis meses de vida. E não lhe tinha pena. Conhecera Orozimbo nos bons tempos, vira-o vitorioso, moço, rico, admirado, feliz. O diabo agora estava simplesmente irreconhecível.
- Qual novo tratamento! - Acendeu o cigarro. Deu uma tragada. - Eu já lhe disse que você devia cultivar esse câncer como uma flor. Huá-huá-huá. Uma flor rara que você tem no estômago, uma rosa que não dá em todos os jardins. Não acha, D. Mag?
A mulher pousou no médico os seus frios olhos protestantes. Ela odiaria aquele homem, se Deus permitisse o ódio. Era um brutalhão sem delicadeza nem compostura. Sua boca vivia cheia de imundícies, porque ele não sabia que quem guarda a sua boca guarda o seu coração.
- Não acha o ’ê? - perguntou ela.
- Que o Zimbo tem uma rosa no estômago?
Ela não respondeu. ”Que Deus tenha piedade de sua alma” - pensou. E foi para a máquina costurar as roupas de Lu.
- D. Mag - gritou o médico. - Como vai o pastor do rebanho?
Sem erguer os olhos da costura ela respondeu:
- Vai bem, graças ao Senhor.
- E a carneirada?
- Mag apertou os lábios e ficou muda.
- Seixas, está doendo - gemeu o doente.
- Deixa que doa.
O médico ergueu-se, de mãos nos bolsos, caminhou por uns segundos dum lado para o outro, dando fortes chupões no cigarro.
- Que tal uma partidinha de xadrez? - perguntou.
- Seixas, está doendo muito... - suplicou o doente.
- Aaah! - rosnou o médico. - Maricão! Doendo nada! Estás é como o português da anedota... ”Agonizantezinho”, hein?
Caminhou para a bolsa, tirou o estojo niquelado e pôs a seringa a ferver.
Havia pavor nos olhos de Orozimbo. D. Magnólia estava revoltada. Aquele homem era um monstro.
- Coragem! Agonizante nada! Você vai sarar, homem. Devia estar até contente... Uma rosa rara dessas... Vamos ver o braço. No esquerdo ou no direito? Arregace a manga.
Aplicou-lhe ainjeção. Orozimbo deixou-se ficar recostado, com a cabeça atirada para trás.
- Mas me contaram uma muito boa - disse o médico, esfregando no braço do paciente o algodão embebido com éter. - Diz que um alemão andava dormindo com a mulher do amigo...
Interrompeu a história para rir: huá-huá-huá.
Era demais! D. Magnólia ergueu-se e foi para o quarto, indignada. E de lá ouviu as gargalhadas do doutor. Devia ser o final da suja história. Quando elas serenaram, voltou para a sala.
Batiam à porta naquele instante. Ela foi abrir.
- Ah! Boa noite. Faça o favor de entrar.
- Que a paz de Cristo esteja nesta casa! - disse uma voz profunda e grave.
Ao ver o médico, o reverendo parou, chocado. Achava Seixas desconcertante, desbocado, desagradável. Vivia a provocar discussões, era dum materialismo grosseiro, não acreditava em nada.
- Boa noite, doutor.
- Olá, reverendo amigo! Como vai a coisa?
O Rev. Bell sentou-se na cadeira que D. Magnólia lhe oferecia.
- Foi uma pena - continuou o Dr. Seixas. - Se o senhor tivesse chegado um minutinho antes teria ouvido uma anedota muito engraçada que contei aqui pro nosso amigo...
Fingindo não ter ouvido nada, o pastor dirigiu-se a Orozimbo:
- O senhor está... aaah... passando bem?
- Regular - gemeu o doente.
- Regular nada! - protestou o médico. - Ele vai muito bem. Estava até me contando que ia hoje a um cata ar é.
Os olhos de D. Mag encontraram-se com os do pastor. Um pedia desculpas ao outro. O Dr. Seixas desatou a rir.
- O senhor já está de novo dizendo inconveniências?
- censurou-o ela. - Arre, ’e homem!
O médico ficou sério de repente, fazendo um ar de criança que acaba de ser repreendida. Coçou a barba. Chupou o cigarro. Estava apagado. Riscou um fósforo.
- Como vão as suas ovelhas, pastor? - perguntou, com seriedade fingida.
- Aaah... a vossa pergunta é irónica... mas eu terei paciência. Minhas ovelhas vão bem.
- Dizem que o preço da lã está subindo. O senhor vai ganhar muito dinheiro com esta safra, reverendo.
Orozimbo queria rir e não podia: as lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. D. Magnólia estava agoniada. O pastor mantinha-se imperturbável, de braços cruzados.
Levantou-se e foi para a outra extremidade da sala conversar com D. Magnólia sobre o próximo chá da ”Liga Metodista de Senhoras” da qual ele era presidente honorário e ela, primeira-secretária.
- D. Mari’inhas Pereira já foi ’onfirmada?
- Eu... aaah... eu creio que não. Por quê?
- Me ’ontaram ’e ela tem ido ao ’ulto todos os domin’os.
O reverendo alçou-se na ponta dos pés e ficou assim balançando o corpo de puro contentamento. Continuaram a falar em membros da congregação, colportores, conversões e providências para o próximo chá.
Às nove horas o Dr. Seixas despediu-se e saiu.
Tinha ainda que ver um doente nos Navegantes, bem no fim da linha. Um embarcadiço cheio de filhos. Aquela gente vivia tendo filhos. Eram como ratos. Ninhadas enormes.
Viu um vulto na escada. Parou. Ouviu um choro mansinho.
- Lu! - chamou. Ela se voltou. - Que é isso? Chorando?
Nenhuma resposta. O Dr. Seixas sentou-se num dos degraus, ao lado da menina.
- Que foi? O marmanjo te deu o fora? Me diga, que eu vou puxar as orelhas dele.
Ela continuava a soluçar baixinho. Não tinha vergonha do doutor. Era o seu médico. Gostava mais dele do que do pai. Apesar de sua aspereza, do seu jeitão brusco, o Dr. Seixas sabia compreender a gente melhor que mamãe e papai.
- Que é isso, menina? Vamos. Está sentindo alguma coisa?
De repente ela sentiu vontade de desabafar. Despejou:
- Não posso mais... Todos contra mim... Não posso... O senhor já viu que coisa horrível? Tenho de viver presa, como uma freira... Papai dum lado, mamãe de outro, reverendo de outro... Agora entrou aqui... Perguntou que é que eu estava fazendo, por que era que eu não ia pra dentro... É da conta dele? Não vou a baile, não vou a cinema, não posso ter namorado... Todos contra mim. Só querem que eu estude e reze, reze e estude...
- Estude nada! Reze nada! Não seja boba. Pare de chorar.
Lu continuou:
- Não tenho direito de me divertir? Não sou de carne e osso como as outras? Que culpa tenho de meu pai ser doente e de minha mãe ser metodista? Que culpa? Isto não é vida...
O doutor coçou a barba. Tirou da carteira um cigarro de papel. Acendeu um fósforo. Lu viu no rápido clarão a cara desalinhada do doutor, os olhos azuis e bondosos, o nariz picado de bexigas, a barba revolta, a testa enrugada.
Depois dum silêncio curto ele disse:
- Está bem. Não é nada. Um dia isso se arranja. Lembrou-se de que quando saía da casa dos doentes,
se acontecia encontrar crianças à porta, dava-lhes moedas de níquel. Para Lu, que era uma moça, não tinha nada a dar.
- Mas é que eu não posso mais, não aguento... O Dr. Seixas levantou-se.
- Então fuja.
- Quê?
- Fuja.
- O senhor está falando sério.
- Não.
Soltou a enorme risada, que na escuridão era assustadora. Depois:
- Vá aguentando. Isso passa. Um dia a vida melhora.
Disse estas palavras sem nenhuma fé. Conhecia demais o mundo para alimentar esperanças fáceis. A vida raramente melhorava. Ele tinha visto tanta coisa má, tanta... Não podia dizer que estava desiludido porque jamais tivera ilusões. Tinha pena dos moços. Via como eles andavam pelo mundo como moscas tontas, como caiam no primeiro prato de água com vinagre: ficavam lutando por se libertar, sacudindo as pobres asas... Conhecia Fernanda. Conhecia Noel. Conhecia-os melhor e mais fundo do que eles mesmos supunham. Tinha pena de ambos. Mas toda a sua pena, toda a sua simpatia se traduziam em palavras e em gestos ásperos, em graças pesadas e chocantes.
- bom. Durma e esqueça.
- Não posso...
- Não pode nada! Ora já seu viu? ... Boa noite!
- Boa noite.
Lu ficou ouvindo o ruído das passadas do doutor na calçada.
Por intermédio de Noel, Vasco conseguiu vender três desenhos em preto e branco para a ”Tarde”. Saiu muito contente com sessenta mil-réis no bolso. Era o primeiro dinheiro que ganhava em Porto Alegre. Pôs-se a fazer planos. Compraria um par de sapatos, aí duns trinta mil-réis. Uma camisa de 14$000. Ficaria ainda com... com... E a sua alegria quase se evaporou quando percebeu que não conseguiria com aqueles 60$000 fazer tudo quanto desejaria. bom. Uma coisa era certa: não podia continuar com os sapatos furados. Entrou numa loja e comprou um par novo por 30$000. Viu numa vitrina um cachorro vermelho de terracota: achou-o engraçado. Pensou em Clarissa: ”Ela vai gostar”. Perguntou o preço. 20$000. Comprou e saiu assobiando.
- Clarissa! - gritou, ao entrar em casa. - Venha ver uma coisa que comprei pra você.
Desfez o embrulho: o rosto da prima se iluminou.
- Que amor! Mas Vasco, como foste gastar?... Quanto custou? Que cara engraçada! Pra mim?
- Pra você.
- Muito obrigada.
Feliz, Vasco foi para o quarto e pôs-se a pensar. Tinha agora dez mil-réis no bolso...
Naquela noite saiu cedo, sem destino. Já não sentia mais a dureza áspera das pedras na sola dos pés. Eram um alívio aqueles sapatos novos, embora ordinários.
Enfiou a mão no bolso, apertou a cédula. E se ele fosse arriscar na roleta? Era programa...
Entrou no Cassino.
A sala de jogo fervilhava de gente. Olívio lá estava pálido, recostado à mesa. Muitos olhos se achavam fitos nele. E Vasco, avistando o camarada, esqueceu-se de que tinha vindo para jogar. Os olhos de Olívio brilhavam. Ele seguia com a cara contraída o movimento da roleta. As suas mãos magras, finas e trêmulas, brincavam nervosamente com as fichas. Ele insistia no número 11. A roleta parou. Onze! Olívio repetiu o jogo. Outra vez o 11.
Vasco comprou fichas e jogou também no onze. De novo o 111
- Alo, Olívio.
- Alo. Tens um cigarro? Vasco deu-lhe cigarro e fogo.
- Estou com uma baita sorte, hoje. Colocou um monte de fichas no 14.
Vasco olhava as caras: mulheres, homens, moços, velhos. Vestidos coloridos, olhos, mãos, perfumes misturados, murmúrios.
Vasco continuava fazendo o mesmo jogo que o amigo. Os minutos passavam. Olívio ganhava sempre.
O calor era opressivo. Vasco passou o lenço pelo rosto suado. Meteu as fichas no bolso e foi ao grill-room tomar um chope. Emborcou o primeiro copo. Pediu outro. Emborcou o segundo. Sentiu-se invadido por uma tontura boa. Sacudia o bolso, e o crepitar das fichas era um sonido alegre a seus ouvidos. Quanto teria ali? O suficiente para passar um mês. Devia continuar? Ou trocar as fichas e ir embora? Hesitou. Pagou o chope com uma ficha.
- Guarde o troco.
Voltou para a sala de jogo e ficou impressionado com a cara de Olívio. O rapaz estava ainda mais pálido. Tinha um cigarro apagado apertado num canto da boca. Uma mecha de cabelo lhe caía pela testa úmida de suor. Seus olhos não se afastavam da roda.
- Que tal? - perguntou Vasco, aproximando-se dele.
- Já estive ganhando vinte contos.
- Ba!
- Estou agora com menos de dois. - Mudando de tom, suplicou. - Vai dar uma volta por aí, Vasco, e dentro de dez minutos, por amor de Deus, me tira daqui desta maldita mesa, mas me tira nem que seja a sopapos!
- Ué...
- Vai. Agora estou com palpite no 11 outra vez. Vai.
Vasco afastou-se. Ficou olhando distraído os pares que dançavam no salão. Lembrou-se de Anneliese. Reviu mentalmente a cara corada, o narizinho enrugado no riso, os olhos límpidos. Sentiu (milagre da memória) o contato daquele corpo, o perfume daqueles cabelos. E num instante reviu o quarto cor de pérola, o cutter, o céu cheio de sol, a praia, o vapor se afastando...
- Garçon, um uísque.
- Puro?
- Puro.
Bebeu. Ficou pensando em Jacarecanga. Que estaria fazendo Jovino àquela hora? Lembrou-se do túmulo de Xexé, a cruz de madeira cinzenta... Seus olhos se anuviaram. Era estranho lembrar-se de mortos distantes no meio daquele burburinho, os berros do jazz, os perfumes excitantes, as mulheres...
Ergueu-se e foi trocar as fichas. Sim: era preciso não se deixar dominar pelo jogo, como o outro. Iria embora.
Tinham responsabilidades... Precisava ajudar nas despesas da casa.
Recebeu o dinheiro: 350$000. Ótimo.
Acercou-se de Olívio.
- E então?
- Ainda tenho 500$000 em fichas. Estou com palpite no 14.
- Tu vais comigo.
- Não. Por amor de Deus, não me leves agora. Só um minuto, só um minuto.
Num gesto brusco colocou todas as fichas sobre o 14. Mordeu o cigarro apagado; jogou-o fora. Esperou, com os olhos na roleta. 11!
Vasco pegou Olívio pelo braço e arrastou-o para o grillroom. Sentaram-se a uma mesa. O outro parecia aniquilado.
- Eu não sabia que estavas assim perdido... - disse Vasco.
Olívio ergueu para ele uns olhos agora sem expressão.
- Estou sem um níquel. vou escrever amanhã pro velho.
- Tens coragem?
O outro encolheu os ombros. Que importava? O pai que se matasse como um burro de carga. Ele não tinha culpa. O que é de gosto regala a vida. Queria ter um filho doutor? Então mandasse boa mesada.
- Me pagas um uísque?
Vasco fez com a cabeça um sinal afirmativo. Veio a bebida, que Olívio tomou dum gole só.
Pediu outra dose, e mais outra. Ia gritar pela quarta quando Vasco decidiu:
- Agora chega.
- Não seja besta.
- Já disse que chega. Garçon, quanto é?
Pagou e puxou Olívio pelo braço. Pegaram os chapéus.
- Onde está a tua baratinha?
- Não sei.
- Não sabes? Como?
- Vendi.
- Vendeste?
- Eu estava pelado. Precisava de dinheiro pra fazer uma fezinha...
Seguiram a pé. Olívio ia meio tonto. Vasco percebia o esforço desesperado que ele fazia para esconder a bebedeira.
- Vamos de auto. Onde é que moras?
Olívio deu-lhe o endereço. Entraram num auto de aluguel. Vasco deixou o amigo à porta duma casa de apartamentos. Despediram-se.
Vasco seguiu sozinho, pensando no companheiro de infância. Via que ele não tinha mais compostura. Lembrou-se de Lu. Teve pena de ambos. Acabou com pena de todo o mundo.
Foi para casa. Todos dormindo. Encontrou sobre a mesa de cabeceira um copo de leite coberto com um pires. No pires, um pedaço de pão-de-ló. Perto do copo, um bilhete: Vasco, acho que andas muito magro e precisas te alimentar. Toma este leite e come o bolo, sim? - Clarissa.
Comeu o pão-de-ló e tomou o leite, sem vontade. Como quem toma um remédio. Releu o bilhete, comovido. Sem sono, foi debruçar-se à janela.
Havia luz na casa de Don Pablo. Através da janela, Vasco viu o espanhol sentado junto da mesa, as mãos segurando a imponente cabeça, a ler um jornal em voz alta e cantante, como se estivesse a fazer um discurso. A seu lado a mulher trabalhava, costurando-lhe as meias.
De madrugada o Dr. Seixas saiu do quarto da paciente. Pediu água quente e pôs-se a lavar as mãos. Vinha lá de dentro o choro duma criança recém-nascida. O médico esfregava as mãos e lutava com o sono. Abriu a boca num bocejo cantado. Subia-lhe às narinas um cheiro acre de sabão de pedra: a bacia era de folha amassada.
- Doutor, então tudo correu bem?
Ele olhou para o pai da criança com o rabo dos olhos e rosnou:
- Correu.
O homem estava embaraçado. Olhava para o médico com olhos apertados. Era um mulato de traços mongólicos, nariz chato e cabeça rapada.
- Dcrutor... então... então agora que é que vai se fazer?
O Dr. Seixas começou a enxugar as mãos num pedaço de estopa. Olhou para o outro, fechou um olho.
- Então não sabe? Nem parece que já teve cinco filhos ...
O mulato sorriu.
- Eu não! Quem teve foi minha muié.
- Eu sei. Eu sei. Se quem tivesse filhos fossem os maridos, há muito que o mundo não tinha mais gente. Vocês são uns maricas!
Desceu as mangas da camisa, vestiu o casaco, botou o chapéu.
- Doutor, quando eu puder o senhor sabe, eu lê pago...
- Paga nada! Você não pode nem com as calças. Essa é boa: eu lê pago. Paga nada! O melhor é botar uma rolha na mulher. Pare com os filhos, vá viajar. bom. Se houver alguma coisa, me avise. Até amanhã.
- Até amanhã. Muito obrigado.
- Aaah!
Saiu. A madrugada estava fresca. Caminhou por entre casebres miseráveis. Seus pés se afundavam numa lama malcheirante, dum pardo quase negro. Um cachorro começou a latir, longe.
O Dr. Seixas prosseguia, com a maleta na mão. Ia pensando em coisas amargas. Filhos, filhos, filhos! Não tinham dinheiro nem para se sustentarem a si mesmos, e sempre a fazer filhos! Depois atiravam as crianças na lama, como porquinhos. Filhos! Ratos!
Procurou cigarros nos bolsos. Não encontrou. Ficou irritado.
Sapos coaxavam num banhado. Se ao menos aquela gente pudesse viver como os sapos... não fazia mal que tivesse filhos às centenas.
Olhou o céu. Estava claro e estrelado. Filhos! Deus não devia dar filhos àqueles miseráveis.
Bocejou. Tirou um pau de fósforo da caixa e começou a mascá-lo. Avistou o rio, sereno na claridade azulada da noite. Olhou o relógio. Quatro horas. Continuou a andar. Pensava agora na sua vida desorganizada, torta, cansada. Lembrou-se de suas promissórias vencidas, das eternas dívidas que o atormentavam desde a mocidade, desde o tempo de estudante. Diabo! E nem ao menos podia ter um automóvel. Os clientes não pagavam. Na sua maioria eram como aquele embarcadiço que não tinha onde cair morto.
Veio de longe o barulho dum bonde: o ”bonde fantasma”. O Dr. Seixas esperou.
Entrou. Era o único passageiro. A luz do carro era amarelenta e triste. O motorneiro tinha uma cara amarela, também, e melancólica. Ao pagar a passagem o médico pediu ao condutor:
- Me dá um cigarro.
Deu-lhe uma moeda de quatrocentos réis.
- Não fumo.
- Pois devia fumar.
O condutor sorriu. Deu o troco. Cambaleando, sacudido pelos movimentos do bonde, o Dr. Seixas dirigiu-se para um banco. Olhou para fora. Passavam casas, fachadas adormecidas, lampejos de vidraças, postes. E o ”bonde fantasma” corria sobre os trilhos, corria e gingava dum lado para outro, rangendo e gemendo, desconjuntado.
O Dr. Seixas sentou-se, recostou a cabeça no vidro da janela e adormeceu.
Eram dez horas da manhã. Noel encaminhava-se para a redação. Um homem saiu de dentro dum automóvel e exclamou:
- Noel!
Parou. Olhou. Era o pai.
- Oh... - Estendeu a mão. - Como vai o senhor? Honorato Madeira abraçou o filho.
- Então, como estão vocês?
- Muito bem.
Contemplaram-se em silêncio por alguns instantes.
- Aonde vais?
- Ao jornal.
- Vem no meu carro.
- Obrigado, papai. Prefiro ir a pé.
- Ora, Noel, vamos de automóvel, não custa. Empurrou-o mansamente para dentro do veículo. Deu
o endereço ao chofer.
- Mas então, meu filho?
Noel sorriu, constrangido. De certo modo, por entrar naquele automóvel ele sentia que estava traindo Fernanda. Olhou para o pai. Devia pedir notícias da mãe?
- Tudo bem - disse. - E lá em casa?
- Tua mãe... tua mãe vai bem.
Um solavanco macio sacudiu o carro. As bochechas gordas de Honorato tremeram. Seus olhos estavam tristes. Ele examinava o rosto do filho. Achava-o um pouco abatido, talvez mais magro.
- Quando é que chega o guri?
- Este mês.
- Este mês? Barbaridade! Como o tempo passa!
Ia ter um neto... Sorriu. Bateu na perna de Noel. E depois, com muita precaução, foi dizendo:
- Noel... meu filho... Olha, tu sabes... eu sei o que são essas coisas... tu sabes, se precisares de dinheiro é só me avisar...
Noel corou.
- Obrigado.
- Despesas de hospitais, médico, eu sei o que são essas coisas...
Houve um silêncio embaraçoso. E dentro desse silêncio Honorato Madeira começou a sentir, mais forte que nunca, o absurdo daquela situação. O seu Noel, o seu único filho, morando numa casa sem conforto, levando uma vida de pobre, ganhando um ordenado miserável! Um doutor, um advogado! Como era que as coisas tinham chegado àquele ponto? Como era? Tudo fora culpa de Gigina, da mãe dele. Se ela não fosse como era, se quisesse mais bem ao rapaz, se fosse mais amorosa, se... se...
O auto parou.
- bom. Até a vista. Honorato abraçou o filho.
- Dê lembranças pra Fernanda, ouviu.
- Obrigado.
- Olhe, não se esqueça de avisar o dia do nascimento. O auto partiu. Noel entrou na redação.
Os outros redatores ainda não haviam chegado. Dirigiu-se para a sua mesa. O contínuo se aproximou.
- Tem aí um cara que quer falar com um redator. Noel viu um sujeito mal vestido, de chapéu na mão.
Franziu a testa... Era melhor que ele esperasse o secretário.
- Que é que ele quer?
- Não sei. Moço, venha cá!
O desconhecido aproximou-se. Noel apontou para uma cadeira.
- Faça o favor de se sentar.
O outro sentou-se E Noel teve um sobressalto ao ver um rosto escaveirado coberto por uma barba cor de fogo de vários dias, lábios duma palidez citrina, olhos fundos, respiração cansada. Estava metido numa roupa surrada e suja, sem gravata, nem colarinho; sua camisa, primitivamente branca, tinha agora uma cor esverdinhada. Ficou com os seus olhos de cão escorraçado a olhar para Noel.
- O senhor queria? ... - começou Noel.
Então o pobre-diabo rompeu a chorar. As lágrimas lhe escorriam pela barba, lhe inundavam os olhos. Mas ele continuava de rosto erguido, olhando para Noel.
- Eu vim... eu vim pedir pro jornal... pro jornal fazer uma subscrição...
Um soluço cortou-lhe a voz.
- O meu filho morreu ontem e vai se enterrar hoje... Tinha três anos. Tenho aqui um retrato dele. - Tirou do bolso um postal, passou-o a Noel, que o pegou na ponta dos dedos. - O coitadinho, era o único.
Era um retrato de fotógrafo ambulante: um guri magro e feio, de olhos arregalados, boca aberta, ar pateta. Devolveu o postal ao pai, sem palavra. E ficou a olhar perdidamente para a caneta verde que se achava sobre a mesa.
- Estou desempregado há seis mês... Arranjei um lugar de motorneiro, mas tive de deixar por causa da doença...
O doutor me receitou um remédio, mas é muito caro e eu não tenho dinheiro...
As lágrimas continuavam a correr. Silêncio. Noel brincava com a caneta. Ergueu os olhos para o homem. Viu que ele não devia ter mais de vinte e quatro anos. A doença e a barba é que lhe davam uma aparência de velhice.
Ah! Como ele se odiava por não poder sentir simpatia por aquela criatura! Tanta desgraça assim parecia impossível, inventada, melodramática. Chegava a ter ares de chantagem.
- Se o senhor pudesse me ajudar... Tenho que comprar o caixãozinho...
Noel pensou no ”seu” filho. Uma turbação muito grande lhe tolheu os movimentos, lhe cortou a voz.
Meteu a mão no bolso, tirou uma cédula e deu-a ao homem sem olhar.
- Mu... muit’ obrigado, doutor.
Noel quase pediu desculpas por dar. Sempre achara a caridade humilhante para quem recebe.
Naquele instante, porém, entrou um dos repórteres e Noel, aliviado, entregou-lhe o caso e foi até a janela respirar um pouco. Ouvia a voz do repórter no interrogatório animado. Qual é o seu nome? Quantos anos tem? E ouvia a voz fraca e quebrada do outro, respondendo.
- Não tem nenhum parente rico que possa ajudar você?
- Tenho.
- Quem é?
- Meu pai.
- Quem é seu pai?
- Se chama Marcínio Fraga. O repórter deu um salto:
- Quê? O Marcínio Fraga da firma Fraga & Matos?
- É, sim senhor.
- O da fábrica de produtos químicos?
- Esse mesmo!
O repórter se aproximou de Noel, segurou-o pelo braço:
- Menino, que reportagem! O filho dum capitalista na mais negra miséria. Que furo! - Voltou-se para o doente.
- Escute, já esteve noutro jornal? Não? Ótimo! Mas vá contando a sua história...
O homem continuava sentado, segurando nas mãos macias o chapéu seboso e amarrotado.
- Está brigado com o velho? - perguntou o repórter.
- Não vê que... que ele se casou outra vez e a madrasta começou a inplicar comigo... Um dia... um dia eu disse um desaforo pra ela e me botaram na rua. Eu casei, depois veio a doença e eu perdi o emprego.
Ofegava. O repórter escrevia freneticamente. Noel estava embasbacado.
- Nunca mais procurou seu pai?
- Procurei. Quando o guri adoeceu fui pedir pra ele me ajudar.
- Que foi que ele disse?
- Que não queria saber de mim. O repórter dava pulos.
- Menino! Se a gerência não me trancar esta reportagem, vai ser uma bomba!
Naquela tarde ao chegar a casa, Noel encontrou Fernanda, Clarissa e Vasco, a conversarem na varanda. Estavam todos melancólicos. Fernanda passara um dia horrendo, com dores e apreensões. Vasco caminhara toda a tarde inutilmente. Clarissa entristecia vendo os companheiros sombrios.
Cada qual contou a sua história amarga. Quando Noel se referiu ao que vira e ouvira no jornal, Fernanda fez a seguinte observação:
- Ouçam o que eu digo. O jornal não publica. No mínimo o benemérito industrialista desta praça dá anúncios. A vida nesta sociedade burguesa não endireita porque é uma vasta engrenagem que ninguém tem coragem de começar a desmanchar.
Vasco, que estava sentado junto da mesa, ergueu-se, brusco, meteu as mãos no bolso e começou a caminhar dum lado para outro.
- Vocês sabem o que me dá vontade de fazer? Entrar no escritório desse tal Fraga, atirar dois mil-réis em cima do bureau dele e dizer: ”Me venda um pouco de veneno de matar rato. Pra quê? É pra dar pro seu filho. Assim ele morre mais depressa e não sofre tanto”.
Fernanda sorriu melancolicamente.
- E, ”seu” Vasco, os tempos andam bicudos...
Ele encolheu os ombros. Fernanda continuou:
- Eu queria só saber o que será o mundo quando o meu filho for homem...
Noel sacudiu a cabeça, desanimado. E, reunindo toda a coragem, falou:
- Talvez fosse melhor a gente nunca pensar em botar filhos no mundo...
Houve um silêncio curto. Mas de repente Fernanda se animou:
- Não diga isso, Noel. No fim de contas a vida é uma aventura. O essencial é ter coragem. Quê diz, capitão? sorriu ela, fitando os olhos em Vasco.
Este parou no meio da sala, olhou para a amiga, viulhe o ventre túmido, as olheiras, o sorriso corajoso.
- Está certo. A vida é uma aventura. A gente precisa às vezes fechar os olhos e tocar pra frente, meter a pata...
. Feriu o ar com um pontapé. Clarissa sorriu. Estava ali de novo o Gato-do-Mato. Sentia-se orgulhosa dele. Um dia ainda Vasco havia de fazer grandes coisas.
Noel pensava no rapaz doente. Não podia esquecer a cara dessangrada, a barba cor de fogo, úmida de lágrimas, a camisa suja, a respiração difícil...
Fernanda pensou no filho. E para alegrar o ambiente, acendeu o rádio. Em breve um tenor italiano começou a berrar uma ária de ópera. Parecia querer arrebentar a cúpula do teatro, rachar o microfone, o alto-falante, fazer a terra voar em pedaços...
Vasco botou a mão nos ouvidos.
- Cruzes! Começou a dar pulos.
- Que horror! - exclamou Noel. - Basta! Por favor, Fernanda!
Clarissa desatou a rir. E todos ficaram de novo alegres, porque no fundo tinham uma secreta esperança de dias melhores.
O telefone tilintou. Um dos redatores foi atender.
- Noel, é contigo... - gritou ele. Noel teve um sobressalto. Pegou o fone.
- Alo...
- É o Noel? Aqui é o Vasco... Olha, a Fernanda vai agora para o hospital. Sabes? O Dr. Seixas veio e disse que a festa é pra hoje. Vens já?
Noel quis dizer alguma coisa mas faltou-lhe a voz. Largou o fone. E por um instante não enxergou nada do que o cercava. Balbuciou uma desculpa para o secretário do jornal, pegou o chapéu e saiu.
Eram duas da tarde e fazia sol.
Viu-se na rua tonto, desorientado. Como se se encontrasse de repente, inexplicavelmente, no meio duma cidade estranha. ”... a festa é pra hoje”. A voz desfigurada de Vasco lhe soava na memória ”o Dr. Seixas disse”... Noel acelerava os passos. Passavam pessoas, veículos; havia coruscações, sombras, manchas largas do sol, ruídos, em torno dele. Mas ele só enxergava formas vagas, sons abafados. ”... a festa é pra hoje”. Sim. Tivera um pressentimento ao sair de casa. Fernanda lhe havia dito que as dores estavam mais fortes e vinham com intervalos mais breves...
Esperou um bonde. Passavam-se os segundos, os minutos ...
Ia nascer uma criança. Talvez naquela mesma tarde. Ou naquela noite. Ia nascer um ser humano. O seu filho. O filho de Fernanda. Noel olhava o relógio. Decerto ela já” estava a caminho do hospital. E o bonde não vinha. Devia tomar um auto? Não podia. O dinheiro estava curto. Sair correndo a pé? Ficou indeciso. Mas o bonde finalmente apareceu.
Oito minutos depois Noel saltava à frente de sua casa. Entrou com o coração aos pulos.
Pálida, com o rosto contraído de dor, Fernanda estava estendida no divã, enquanto Clarissa, ajudada por D. Eudóxia, arrumava as roupas numa maleta.
Noel aproximou-se da mulher e ficou diante dela, desamparado, braços caídos, olhos desmedidamente abertos, testa franzida, rosto fixo numa expressão que era um misto de desgosto, pena e susto.
Fernanda sorriu, bateu-lhe na mão e disse:
- Não te assustes. Não é nada. - Depois, alteando a voz e voltando a cabeça para o quarto: - Não se esqueçam da escova de dentes e do tubo de pasta. E dos lenços! Não é nada, Noel. Coragem!
Naquele momento um automóvel parou à porta. Vasco saltou de dentro dele, aproximou-se da janela e gritou:
- O auto está aqui. Vamos embora, pessoal! Houve um momento de alvoroço.
- Pegue o dinheiro, Noel! - pediu Fernanda. - Temos que fazer um depósito no hospital.
Toda a gente estava nervosa e afobada. Clarissa apareceu com a mala na mão, o coração aos pinotes, as mãos trêmulas.
- Eudóxia acariciava um mau pressentimento. Era sexta-feira. Ainda havia o perigo de lhe meterem a filha num quarto que tivesse 13 no número. com olhos de boi que vai para o matadouro, ela ficou parada junto duma porta, olhando penalizada para Fernanda.
Noel não encontrava o dinheiro. Remexia nas gavetas do penteador, da cômoda, da mesa-de-cabeceira.
- Fernanda, não acho o dinheiro! Onde foi que o botaste?
- Eudóxia levou as mãos à cabeça:
- Quer ver que o roubaram? Santo Deus! - Precipitou-se para o quarto. Fernanda seguiu-a.
- Mas tenho certeza que botei aqui. . .
- Eudóxia levantou o colchão. Resmungava, amaldiçoando a vida, amaldiçoando as criaturas, amaldiçoando a sua triste sina. Para os pobres tudo que é ruim acontece. Bem dizia o ditado: ”De pobre até o rasto é triste!”
- Está aqui! - exclamou Fernanda. - Eu sabia!
O dinheiro estava dentro dum livro, na gaveta central da cômoda. O seu rosto se iluminou por um instante, numa expressão de alegria para escurecer de novo pouco depois, repuxado de dor.
- Está doendo muito? - perguntou Noel, abraçando-a.
- O auto está esperando! - berrou Vasco do lado de fora. - Vamos embora, minha gente! Venha, Clarissa.
Clarissa saiu com a mala. Noel enfiou o chapéu, meteu o dinheiro no bolso e deu o braço a Fernanda. D. Clemência, a última a deixar a casa, fechou a porta. Enfurnaram-se todos no automóvel. Lá se foi o Chevrolet velho. E dentro dele seis caras sérias, seis criaturas apreensivas, num grande silêncio de expectativa.
Na portaria do hospital tiveram a primeira dificuldade.
- O depósito é quinhentos mil-réis - disse o secretário, um rapaz magro, alto e ruivo, com bigodes cor de tabaco.
Fernanda e Noel se entreolharam, surpreendidos.
- Nos disseram que era trezentos ... - arriscou ele com voz quase inaudível.
- É, mas são quinhentos - repetiu o empregado. Em fila indiana atrás de Fernanda e Noel - Clarissa,
- Clemência, D. Eudóxia e Vasco esperavam em silêncio. Eram uma plateia interessada, assistindo a um espetáculo de guignol,
Fernanda tentou ainda:
- Mas se a gente desse trezentos hoje, não podia dar duzentos mais tarde?
O secretário sacudiu a cabeça.
- Sinto muito. Quinhentos. É do regulamento. Fernanda forçou um sorriso.
- bom. Então eu vou ter o filho na rua . . .
Do fundo da alma D. Eudóxia desenterrou o mais sentido dos suspiros.
- O remédio é ter a criança na maternidade da Santa Casa. Quem é pobre...
Noel odiou-a. Vasco teve vontade de dar-lhe um pontapé no traseiro.
O empregado esperava. Estava habituado àquilo.
Silêncio. Noel sentou-se, desanimado. Vasco foi até a janela, olhou para fora por um instante, e voltou-se de repente, lembrando-se ...
- Já sei! Moço! - Segurou o braço do secretário. Pegue esses trezentos. Eu já trago o resto. Já, já. E vocês podem ir pro quarto. Não demoro.
A alegria o transfigurava. Lembrara-se do dinheiro ganho no jogo, do dinheiro que estava reservando para mandar fazer uma fatiota.
- Mas, Vasco... - começou Fernanda.
Mas o rapaz já estava na rua. Entrou no primeiro automóvel.
- Depressa! - gritou para o chofer.
Enfim ia fazer alguma coisa de útil na sua vida. Era lindo! Que importava ficar sem roupa e nem dinheiro? Uma criança que nasce não é mais importante que todas as roupas, que todos os sapatos do mundo? Começou a assobiar. Ia tirar os amigos dum aperto. Lindo! Lindo! Lindo!
Quando voltou com o dinheiro, Fernanda já estava no quarto. Haviam-lhe dado primeiro o 413. D. Eudóxia fizera grande barulho: o quarto tinha 13, era agourento, a menina podia ter uma hemorragia, ou o filho podia sair defeituoso. Tentaram convencê-la de que na véspera deixara aquele mesmo quarto uma parturiente que fora felicíssima. Inútil.
Levaram Fernanda para o 417.
Às quatro da tarde apareceu o Dr. Seixas. Todos os olhos se cravaram na cara barbuda.
- Então? - perguntou ele com a sua voz rachada. Já deu cria?
Silêncio.
com um toco de cigarro colado ao lábio inferior, o médico olhava para Fernanda. Havia agora bondade, piedade e simpatia nos seus olhos de criança grande. Aproximou-se da paciente e pousou-lhe a mão na cabeça.
- Então? - tornou a perguntar.
- As dores estão cada vez mais fortes, doutor... queixou-se ela.
- Dores nada! Tive mais de cem partos e nunca senti dor. Huá-huá. - Alçou a voz. - Vão todos embora. Quero fazer um exame nela. Toca pra rua! - Olhou para D. Eudóxia. - E você deixe essa cara fúnebre. Morreu alguém? Não morreu. Não seja necrófila. Isto é um parto não é um velório. Vão embora!
Fechou a porta.
Os outros ficaram no corredor, calados, esperando. Cinco minutos. Dez. A porta se abriu. O doutor dava grandes gargalhadas. Fernanda ria também, efeito duma anedota escabrosa. E todos se espantaram de ver a ”doente” rindo com lágrimas nos olhos.
O Dr. Seixas lavava as mãos.
- Ó papai de primeira viagem - gritou para Noel. Toque a campainha!
Noel apertou a pêra. Veio uma enfermeira muito corada, de olhos azuis. O médico murmurou-lhe qualquer coisa ao ouvido.
- Mandei dar uma injeção nela. A dilatação está muito pequena.
Vestiu o casaco. Acendeu o toco de cigarro.
- Não era bom ela já deitar, doutor? - perguntou D. Clemência.
- Deitar nada! Que é que você entende disso? Cuide do seu fígado! Fernanda que caminhe um pouco no corredor. É melhor. Ajuda a descer a cria. Deitar nada!
Limpou a gola do casaco, que estava suja de cinza, lançou um olhar hostil para D. Eudóxia, botou o chapéu na cabeça e caminhou para a porta. Antes de sair, voltou-se:
- A parteira está ai. Acho que o potrilho vem lá pelas oito ou nove da noite. Estimo que não precisem de mim. Se precisarem, chamem. Divirtam-se! Saiu pelo corredor. Vasco seguiu-o.
- Doutor, então a coisa vai toda em ordem?
Sem voltar a cabeça, chupando o cigarro, o médico perguntou:
- Que coisa?
- A Fernanda.
- Aaaah! Vocês estão fazendo um bicho de sete cabeças ... Um parto. Que é um parto duma mulher moça num hospital de primeira classe?
Pararam à porta do elevador. O Dr. Seixas apertou no botão.
- Eu queria que você visse - continuou ele - uma mulher pobre tendo um filho num rancho esculhambado dos Navegantes. Uma sujeira pavorosa. Nem toalhas, nem desinfetantes, nem nada.
Vasco escutava. O elevador subia com um zumbido macio.
O médico jogou fora o toco de cigarro.
- Se as irmãs me vêem jogando este toco de cigarro no chão vão ficar por conta do Bonifácio. Huá-huá! Mas eu não ligo.
com um estalido, a gaiola de ferro parou na frente deles. Entraram.
- Então o senhor acha que tudo vai bem? ... - tornou a perguntar Vasco.
O doutor fitou nele dois olhos curiosos.
- Mas, afinal de contas, quem é o pai? Você ou o Noel?
Vasco ficou muito vermelho. O doutor bateu-lhe no ombro.
- Aaah. Não faça caso. Estou brincando. Tudo vai sair bem.
Já na rua o doutor contou:
- Eu queria que você visse. Na maternidade da Santa Casa os fedelhos nascem e às vezes os pais não têm roupa para botar neles. Sabe o que fazem? Embrulham as crianças em jornais...
- Em jornais?
- É pra você ver. ..
Desceram a rua em silêncio. Passou um caminhão barulhento carregado de fardos de alfafa. O sol chispava nas vidraças.
- Doutor, o senhor não acha que tudo isso está errado? O velho encolheu os ombros.
- O mundo é uma droga.
- Às vezes eu penso... - continuou Vasco - penso se a gente não podia fazer alguma coisa, dar um jeito...
- Jeito nada! Já me iludi. Isso não endireita. Ele errou, quando fez esta joça. Agora não sabe endireitar.
- Ele quem?
- Deus.
- O senhor acredita em Deus?
- Acredito. Porque estou ficando velho e sou um covarde.
Acendeu o cigarro mais uma vez.
Outro silêncio. À primeira esquina, pararam.
- Você já arranjou emprego?
Vasco sacudiu a cabeça negativamente.
- Ainda não.
O doutor jogou fora o cigarro e ficou olhando o rapaz por algum tempo. Sentia uma irresistível simpatia pelos moços. Aborrecia os velhos com um aborrecimento que quase chegava a transformar-se em hostilidade. Achava-os viciados, cheios de cacoetes, defeitos, prejuízos idiotas, deformações incuráveis. Os moços eram belos, arejados, tinham menos vícios; acontecia, porém, que andavam às tontas numa época trágica, numa época incerta. Se ele os pudesse ajudar! Qual! Curar uma cólica de fígado, uma dor de cabeça, extrair um apêndice não era exatamente resolver problemas morais ou sociais. Não era tirar a inquietação diante da morte. Não era dar um emprego.
- bom. Até logo.
- Até logo. Separaram-se.
Nu debaixo do chuveiro, Amaro lutava como um herói.
Torcia e retorcia a torneira. Batia no cano. E a água não vinha. Tinha parado de repente. Agora ele estava ali com o corpo todo ensaboado. . . Como ia ser?
Saltou para fora da banheira e, molhando a ponta da toalha na pouca água que havia no fundo desta, começou a tirar o sabão do corpo.
Saiu do quarto de banho um pouco irritado. .
Doce, no corredor, abriu um sorriso para ele.
- Tava bom o banho?
- Faltou água.
- Não diga! Que horrore. Por que não gritou?
- Não se incomode.
- É quarquer cosa na caixa...
- Não faz mal.
Foi para o quarto. Doce seguiu-o.
- Seu Amaro, fiz um doce pró senhore.
Em cima da mesa de cabeceira ele encontrou um prato fundo.
- Muito obrigado. Era ambrósia.
- Gosta?
- Gosto.
Doce sorria. Suas bochechas reluziam. E ela ali estava com os grandes seios arfando - uma massa enorme de carne a tomar conta de todo o vão da porta.
Enrolado no chambre, já encabulado, Amaro esperava.
- Quer um pratinho e uma colher pra comer agora?
- Muito obrigado. vou comer depois.
Doce esperava, contemplando o hóspede com simpatia.
Amaro olhava de viés para a mulata, que lhe lembrava vagamente uma china paraguaia quituteira na sua cidade natal, especialista em churros, cocadas e sonhos.
Amaro não podia vencer a repugnância que a mulher lhe inspirava. Ela tinha nos gestos, na voz, no todo, uma certa qualidade viscosa. Usava um perfume barato horrendamente ativo. À noite pintava os beiços e as faces. Tinha as unhas esmaltadas dum vermelho que lembrava carne viva. Suas mãos cheiravam vagamente a cebola.
Quando Doce entrava no quarto, Amaro tinha a impressão de que lhe violavam a intimidade. Porque aquele quartinho pobre e feio estava agora todo impregnado da invisível presença de Clarissa. Amaro conseguira criar ali uma atmosfera onde pudessem reflorescer os seus sonhos, e suas esperanças frustradas. A máscara de Beethoven no tabique. Os livros na estante de madeira sem lustro. Um que outro quadro. Tudo isso concorria para formar um clima, um ambiente. Era o seu mundo, o seu refúgio. Tudo aquilo e mais a lembrança de Clarissa. E as suas músicas ... E a sua tristeza.
- bom - fez a mulata. - Si percisar alguma cosa, é só chamare ...
Sorriu. Lançou um olhar amoroso para o hóspede e se foi.
Amaro fechou a porta, tirou o chambre e começou a vestir-se.
Aquele pressentimento de desgraça continuava. Ele sentia qualquer coisa no ar, uma ameaça inquietante, tanto mais inquietante quanto mais indefinível.
Pela manhã vira Clarissa tomar o ônibus para Canoas. Como ela estava linda, corada e fresca! Ia de casaco preto, com a gola erguida. A manhã estava fria. As árvores, úmidas. E ele ficara escondido a contemplá-la. .. Era incrível que ele, ele pudesse fazer aquilo. Mas fazia. Gostava. Já era até um hábito.
Vestido, Amaro botou o chapéu. Ia jantar. Uma xícara de café com leite, pão e manteiga. Almoçava por dois milréis. Continuaria assim até encontrar emprego. Mas emprego, onde? Nos bancos, nada. Em escritórios, também nada. Onde, então? Pedir era difícil, pedir era terrível. Os empregos não caíam do céu. Depois, ele tinha poucas relações. Faziam-lhe promessas vagas. ..
E os dias passavam. O dinheiro diminuía. Chegava ainda para pagar o aluguel no fim daquele mês. Mas... e no mês seguinte?
Nem era bom pensar.. .
Saiu. No corredor encontrou o filho de Doce.
- Boa tarde.
- Boa tarde.
Sentiu um calafrio. O rapaz era como uma cobra. Caminhava gingando, rebolando as ancas femininas. E o pior era quando cantava com voz de contralto. E que nome! Temístocles. A mãe lhe tinha um grande amor. Os carinhos. ..
Temístocles pra cá. Temístoctes pra lá. Toma este leitinho, menino, que estás muito pálido. Cuidado com os resfriados, Temístocles. E a voz gorda de D. Doce lambuzava o filho de recomendações. Ela dizia dore, amor e, calore, horrore. E o filho usava o perfume da mãe. E depois havia mais aquele velho cínico que tossia toda a noite. Que abria às onze horas a porta do seu quarto para o mulatinho. Que lhe dava presentes, gravatas, pregadores. Que gostava de discutir política. Que acompanhava todas as procissões.
Se eu arranjar um emprego - pensava Amaro - voume embora desta casa.
Na rua sentiu-se envolvido pela luz morena da tarde. Pensou em Clarissa. Tudo que era belo, fresco, terno, suave lhe trazia à memória a imagem de Clarissa. E depois havia uma mistura mágica: a imagem se transformava em sons e então Amaro caía de cheio numa sinfonia, como num lago enorme, azul e transparente, duma fundura insondável... Ficava perdido. Estava agora compondo um grande poema sinfônico. Mas só mentalmente, era claro.
Saiu a caminhar rumo do seu café. Ouvia os violinos desdobrando uma longa frase. Algo de aéreo. De extraterreno. Dando uma ideia de asa. De coisa suspensa no ar. Transparência de vidro. Graça matinal. Só os violinos. O resto da orquestra em silêncio.
E Amaro ouvia a sua sinfonia. Era o poema da libertação. O homem fugindo da terra e da vida. Se ao menos pudesse realizar aquilo, já que fracassara em tudo o mais! O diabo era que as coisas que lhe pareciam geniais e duma beleza divina, assim imaginadas, ele nunca as conseguia pôr na pauta musical. Só lhe saiam vulgaridades.
Perdido no seu mundo, Amaro esqueceu-se de que ia jantar, passou pelo café sem dar por isso e enfurnou-se no torvelinho duma rua movimentada. Não via nada. Só ouvia os violinos na frase que começava na terra e se perdia no infinito - música de anjos, música de elfos, poeira de sonho. Um ruído rechinante e violento.
- Não enxerga, idiota?
Um Buick estacara à frente de Amaro.
- Bote óculos! - vociferou o chofer.
Amaro agora sentia-se sem norte numa região infernal e vertiginosa.
Um inspetor do tráfego aproximou-se.
As dores agora eram violentas e vinham com intervalos cada vez mais curtos. Fernanda e Noel, lado a lado, caminhavam pelos corredores do hospital. Iam e vinham, duma ponta a outra.
Ele estava pálido e apreensivo. Abraçava Fernanda e, assim juntos, caminhavam. De quando em quando ela parava, recostava-se a uma parede para melhor suportar aquela dor violenta que lhe dava uma impressão de dilaceramento. A despeito de todo o seu esforço, vinham-lhe lágrimas aos olhos. E Noel chorava com ela.
- Não é nada - dizia ela, como se o marido também estivesse sentindo as mesmas dores. - Coragem!
Davam-se o braço e continuavam a andar. Sentadas no quarto, num silêncio soturno, D. Eudóxia, D. Clemência e Clarissa se entreolhavam sem coragem de falar.
Pela janela viam parte da cidade e uma nesga do rio. O crepúsculo era uma festa em ouro e carmesim.
Fernanda, nos intervalos das dores, conversava.
- Esta noite vamos ver o nosso filho.
Apertava a mão do marido, que parecia ter perdido a fala. Doía-lhe ver a mulher sofrendo. Achava-se culpado. Preferia que tudo aquilo não acontecesse. Era brutal. Era doloroso. Era terrível.
E caminhavam sempre. As grandes janelas de vidro fosco de um dos lados do corredor estavam alaranjadas pelo sol da tarde. O corredor era longo. Chão de linóleo muito lustroso e limpo. Ladrilhos nas paredes, dando uma impressão de nudez e fria limpeza.
- Ai! - gemeu Fernanda.
Apoiou-se em Noel, deixou cair a cabeça sobre o ombro dele e ali ficou a gemer baixinho. Suava frio. Tinha a impressão de que ia estourar.. .
Mas a dor de súbito passou.
- Pronto, querido! - disse ela com voz quebrada. Não é nada. Vamos andar.
Noel estava branco como os ladrilhos da parede.
À porta do quarto, D. Eudóxia interrogou-os com os
olhos. O olhar de Noel pedia socorro. Mas Fernanda sorriu encorajadoramente. Convidou Clarissa para acompanhálos
no ”passeio”.
Passaram para o corredor da outra ala do edifício.
- Não é nada, Fernanda, tu hoje de noite tens o teu
bebezinho.
- Que vai ser teu afilhado!
Clarissa sentiu-se feliz na sua aflição.
- Teu e do Vasco...
E a felicidade de Clarissa aumentou.
Chegaram à extremidade do corredor. Fernanda parou.
Fez um esforço tremendo para não gritar. Noel e Clarissa se entreolharam, desamparados.
Fernanda de novo ergueu a cabeça.
- Não é nada. Vamos pra frente.
Passaram pela porta aberta dum quarto. Olharam os três ao mesmo tempo, como que atraídos por um misterioso chamado. Pararam um instante. No meio do compartimento se via num caixão branco o cadáver duma criança recém-nascida. Parecia um boneco de cera. Noel não se pôde conter, desatou o choro. Todos acabaram chorando.
Clarissa puxava Fernanda. Fernanda puxava Noel. Saíram quase a correr. Era uma fuga. Fugiam da morte. Fugiam do caixãozinho branco onde estava estendido o boneco de cera...
Só não conseguiram era fugir do medo terrível que agora os assaltava.
Noite fechada. A irmã de caridade, uma mulher de óculos e fala doce, disse para Noel:
- O hospital fecha às sete horas. Mas eu vou arranjar um lugar para os senhores esperarem o nenê.
Mostrou-lhe o quarto contíguo ao em que se achava
Fernanda.
- Clemência ofereceu-se para ajudar a parteira.
A porta se fechou. Noel teve a impressão de que era o túmulo de Fernanda que se cerrava para sempre.
- Eudóxia e Clarissa foram rezar ao pé da imagem de Santa Terezinha que havia no centro do corredor. Ficaram ali longo tempo, de mãos postas.
Vasco, que chegara havia pouco, caminhava dum lado para outro, apreensivo.
Vinham gemidos abafados do quarto de Fernanda. O
rosto de Noel se desfigurou.
Vasco explodiu:
- Deus! Deus é tão bichão, tão bonzão, tão sabichão...
Por que não inventou outra maneira da gente ter filho? Por quê? Esse sofrimento, essa coisa bárbara...
Deu um pontapé na cadeira que tinha na sua frente.
A porta se abriu. Apareceu uma freira de rosto muito branco
e bondoso.
- Ssst! Não façam barulho.
Tornou a fechar a porta. Vasco atirou-se na cama.
Noel estremecia a cada gemido de Fernanda. De repente
abriu a porta e saiu apressado. Entrou no elevador; subiu.
Achou-se em breve na sotéia do hospital.
O vento frio da noite envolveu-o.
Noel ergueu os olhos para o céu. Brilhavam estrelas.
Na cidade faiscavam luzes. O rio era como uma faixa de mercúrio. Subia das ruas a trovoada dos bondes. Na praça, na frente do hospital, jorrava um repuxo luminoso e colorido.
Noel nunca se sentira tão só em toda a sua vida.
Faltava-lhe todo o apoio humano. Fernanda, que sempre o assistira, agora também precisava de amparo. E ele estava só. Estava só e sentia necessidade de se entregar a alguém, necessidade de procurar um refúgio poderoso que o fizesse esquecer tudo quanto a vida tinha de horrível e de sujo.
Pensou em Deus. Ergueu os olhos e sentiu a presença dele para além das estrelas. Se Ele descesse... Teve um desejo de rendição, de abandono. Todo o seu orgulho desaparecia.
Ficou parado no meio da sotéia. Humilde, entregue, meio tonto, desejando a Grande Paz, procurando Deus.
Sim. Ele existia. Estava mais perto do que parecia. A vida não podia ser gratuita. Todo aquele sofrimento, toda aquela brutalidade, a luta feroz de todos os dias - eram coisas que não podiam deixar de ter uma finalidade.
Noel segurou a balaustrada de cimento. Sentiu-a gelada.
Pensou na morte, em Fernanda... Que se estaria passando lá embaixo? Já teria nascido a criança? Ou... ou...
As lágrimas lhe corriam pelo rosto. O vento da noite
as deixava frias, frias.
E de repente uma paz muito grande caiu sobre sua alma.
Na praça, o chafariz lançava para o céu (também procurando Deus?) o seu repuxo vermelho, azul, verde, solferino, cor de ouro. Brincavam crianças sob as árvores da praça.
Os minutos passavam. Mas Noel estava fora do tempo.
Vasco apareceu de súbito à porta do elevador e gritou:
- Noel!
Correu para ele de braços abertos, enlaçou-o com violência, ergueu-o no ar:
- Uma menina, bichão! Uma rapariga deste tamanho!
Um colosso! Tudo correu lindo...
Noel quis falar mas não pôde. Deixou-se arrastar para
o elevador.
As estrelas continuaram tranquilas.
Do outro lado do tabique o velho tossia.
Amaro revolveu-se na cama, sem sono. Tinha fumado muito, estava excitado.
Passos no corredor. Uma batida na porta, muito de leve.
- Quem é?
- Sou eu.
Era Doce.
Amaro saiu da cama, contrariado. Estava de pijama.
Entreabriu a porta. Doce meteu a cabeça pela fresta. - com licença...
Entrou. Amaro esperava, inquieto.
- Vim lhe trazê este leite ...
Nas mãos gordas da mulata o copo de leite tremia.
- Obrigado - balbuciou ele.
Doce fechou a porta, mas ficou dentro do quarto. Houve um instante de silêncio indeciso. Depois a mulher caminhou para a mesa-de-cabeceira e pôs o copo em cima dela. Sentou-se na cama pesadamente, escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar.
- Que é isso, D. Doce?
Segurando com a mão direita as calças do pijama velho, que não tinha mais cordão, Amaro achava-se ali no meio do quarto sombrio, olhando desconsoladamente para a dona da casa, o coração a bater de apreensão.
Doce chorava de mansinho. Seus ombros fofos subiam e desciam.
Sempre segurando as calças, Amaro acercou-se dela.
- Que é isso, D. Doce?
Ela baixou as mãos, ergueu os olhos para ele e com voz chorona lhe disse, batendo com a mão na cama, ao seu lado.
- Sente aqui, seu Amaro.
com uma impressão de desgraça, miséria, embaraço e ridículo, Amaro obedeceu. Sentia o calor que vinha da mulher. Sentia o seu cheiro do extrato barato. Via o arfar de seus seios monumentais.
- O senhore... - começou ela, gaguejando de comoção - o senhore... não... não gosta nem um pouquinho de mini?
Para Amaro a pergunta teve o efeito duma paulada. Tartamudeou:
- Ora, D. Doce... isso... ora... como é que? ...
O braço gordo e quente da mulata envolveu-lhe o pescoço. Quis erguer-se mas sentiu-se puxado com violência. Caiu de costas na cama, E por cima dele tombou o corpanzil de Doce - cálido, mole, derramado. Os lábios dela procuravam os seus. Amaro, desesperado, sacudia a cabeça dum lado para outro, fugindo. Fez um esforço violento para se libertar. Inútil. Docelina era pesada e forte. Seus braços carnudos o pregavam implacavelmente à cama.
- Meu amore - gemia ela. - Eu te dô tudo, tudo que tu quiser...
E Amaro sentia na testa, nos olhos, nas faces a respiração arquejante e morna de Doce.
- D. Doce, por favor, D. Doce!
Por fim ela lhe apanhou os lábios, beijou-os com avidez, com gula.
Amaro fechou os olhos. Por causa da sombra e de sua grande ânsia, Doce não viu a careta de nojo que ele fez.
A custo ela movia o corpanzil, lúbrica. Amaro resistiu por alguns segundos. Depois cedeu.
Beethoven, de olhos fechados, não viu os movimentos rítmicos daquela massa de carne que esmagava Amaro. Surdo, não ouviu os queixumes que se escapavam da boca de Doce. O fantasma da tia Manuela assombrou o quarto. Minutos depois Doce fechou a porta e, na ponta dos pés, seguiu pelo corredor. Ia leve, com a alma inundada de felicidade. Finalmente, resolvia o seu problema. Tinha homem em casa. Não precisava recorrer como antes ao rapaz do gelo, ao distribuidor de pão, ao leiteiro...
Amaro ficou estendido na cama como um morto. Água, água - queria água para se lavar. Sentia-se sujo, irremediavelmente sujo. Meteu-se debaixo do chuveiro. Saiu depois tiritando de frio.
Vestiu-se às pressas e ganhou a rua.
O que acontecera era incrível. Ainda sentia na boca o gosto dos beijos babados de Doce. Nojento!
Caminhou pelas calçadas desertas. Acendeu um cigarro.
Precisava deixar aquela casa. No dia seguinte iria embora. Para qualquer parte. Em último caso, dormiria até na rua. Tinha de fugir a toda aquela sujeira...
Pensou no seu poema sinfônico. A música dos violinos, entretanto, não conseguia desprender-se da terra. Doce a segurava com as mãos grossas e graxentas. Não havia libertação possível.
Pensou em Clarissa. Achava-a agora mais distante e inatingível que nunca.
Sentou-se num banco de praça e ficou ali a fumar até o amanhecer.
Naquele domingo, Vasco resolveu cumprir a promessa que fizera ao Rev. Bell de ir à Escola Dominical. Primeiro foi ao hospital ver a afilhada. Desceu no elevador rindo ainda da carinha miúda, vermelha e enrugada, dos olhos vivos e curiosos, das mãos murchas de lavadeira. Achara Fernanda bem disposta, vira Noel feliz.
Saiu assobiando.
Quando entrou no templo, o culto já havia começado.
Achou tudo muito singelo. Nada de imagens. Paredes nuas. Os bancos de madeira lustrada, despedindo um cheiro de óleo de linhaça. Uma congregação pobre e endomingada. Perfumes baratos e inocentes.
Cantavam com entusiasmo:
Avante, avante, ó crentes, Soldados de Jesus Erguei seu estandarte, Lutai por sua cruz.
As vozes inundavam a sala, subiam para o alto, pareciam querer arrancar as tábuas do teto e fugir para a luz branca daquela manhã de princípio de inverno.
Vasco ficou de pé na extremidade dum banco.
Um mulato calvo, de óculos azuis, olhou para ele com o rabo dos olhos e depois, sem parar de cantar, voltou a cabeça e mostrou-lhe com ar bondoso um lugar. Vasco agradeceu com um sinal de cabeça.
O órgão chorava, como uma enorme gaita. Os crentes cantavam. Lá longe, todo de preto, com o hinário nas mãos, o Rev. Bell cantava também. Seus cabelos finos e louros estavam polvilhados de sol.
Sentia-se feliz. A igreja cheia. A congregação entoava o hino com entusiasmo. O último chá da Liga Metodista de Senhoras tinha sido um real sucesso. Por isso ele se erguia bem na ponta dos pés para depois deixar o corpo cair para trás.
Vasco olhava em torno com interesse. Estudava as máscaras humanas. Ficava surpreendido ante a variedade de tipos.
à hora da Escola Dominical o pastor aproximou-se e apertou-lhe a mão.
- Muito prazer em vê-lo conosco.
- Obrigado, reverendo.
As turmas se dividiam. Uma mulher magra, de coque e grandes brincos reunia a classe das moças (”Grupo Flora Scott”) e levava-as para o canto do salão. Um velho alto de pernas tortas arrebanhava os adultos (”Amigos de Wesley”) levando-os para a sala contígua, enquanto o Rev. Bell, batendo palmas, gritava:
- Todos os rapazes juntos como usual... Classe ”Cordeirinhos do Senhor”. Quick! Todos juntos!
Pôs a mão no ombro de Vasco.
- O senhor vai comigo para meu classe. - E observou com o seu humor inocente: - O rapaz já fez doze anos?
- Parece que já...
- Very well. Hoje faz de conta que tem só doze anos, sim?
Os meninos da ”classe-júnior” se achavam sentados nos primeiros bancos. Cabeças inquietas. Zunzum. Princípio de algazarra.
O pastor bateu palmas.
- Parem falando! - ordenou. - Qual é o assunto de nossa lição? Quem sabe?
Um guri magro, sardento e desdentado levantou o dedo.
- Eu sei. David e Golias.
- Muito bem.
O reverendo alçou o corpo na ponta dos pés. E com voz dramática começou a lição.
Falava como um ator em solilóquio. Procurava dar um interesse de novela de aventuras à lição bíblica. Era uma maneira de cativar aqueles rapazes, obrigá-los a virem à Escola, todos os domingos.
Vasco via um novo Rev. Bell, rico de gestos, senhor duma voz de colorido raro. O pastor parecia mover-se num palco.
- Os filisteus - contava ele - estavam de um lado do monte e Israel estava da outra parte. Ia sair um guera danado. - Esfregou as mãos. - Quem ganhava? Quem tinha o derota? Oh! Vamos ver o que aconteceu ao nosso herói David. - Pausa. Sorriso. Depois um gesto largo. Mas, primeiro, quem foi Golias? Uma voz:
- Um gigante!
- Muito bem. De que partido?
- Dos filisteus.
- Egzatamente. Golias era um filisteu. - O reverendo bateu com a mão direita fechada na palma esquerda. Eram os filisteus do lado de Deus? Non. Os de Israel eram do lado de Deus? Eram. Weíi.
Os guris estavam atentos. Lia-se triunfo na cara do pastor.
Tinha-se a impressão de que ele estava contando uma aventura ãofar-west, uma proeza de tom Mix. Descrevia Golias, um sujeito truculento, muito maior que Joe Louis...
Um dos alunos interrompeu-o:
- Maior que o Carnera, reverendo?
- Oh! Longe mais!
Trazia na cabeça um capacete de cobre. Uma couraça escameada no corpo. E como pesava a couraça! Golias provocava: Por que viestes vós dispostos a dar batalha? Acaso não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem e venha bater-se comigo só por só.
Golias era para Rev. Bell o que em sua língua se chamava um sujeito sport.
Depois entrou em cena o pequeno David. com minúcias e imaginação, o pastor contou dos seus preparativos. ”O rapaz” levantou-se de manhã, levou o rebanho para Magdala (era um moço cumpridor de seus deveres) e depois correu para o lugar da batalha.
- Todo povo tinha... aaah... medo de Golias. Mas David non teve. - Tornou a golpear na palma da mão esquerda com a direita fechada.
Ao descrever o encontro o Rev. Bell se entusiasmou como se estivesse no clímax duma peça dramática ou num final de terceiro ato.
- David meteu a mão no seu surão, tirou uma pedra e jogou com o... aaah!... funda no testa de Golias, que caiu por terá...
Ao contar que David tirara a espada de Golias e com ela lhe cortara a cabeça - o pastor fendeu o ar num gesto largo e seu braço magro por um instante foi a espada do gigante.
Sentia-se feliz por poder desse modo tão útil a Deus, dar expansão à sua grande paixão pela arte de representar. Nos tempos do seminário gostava de tomar parte na representação de dramas sacros. O papel que mais gostara fora o de Profeta, na peça A Voz do Sinai. Oh! Mas que pena! O teatro era uma arte mundana, uma arte de satanás. O teatro era sujo, o teatro era pecaminoso, o teatro era dissoluto. Mas desgraçadamente o seu fraco era o teatro!
De algum modo os sermões eram para o Rev. Bell uma válvula de escape. Ele podia empregar as suas qualidades declamatórias no serviço da seara do Senhor - satisfazendo assim e sem pecado, a sua paixão.
Para ele os maiores homens da humanidade tinham sido Cristo, S. Paulo, Wesley, Edison, Washington. (Detestava Lincoln, era de Virgínia, não perdoava aos nortistas a vitória na Guerra Civil.) E com orgulho incluía nessa lista o nome de Sir Irving, o grande intérprete de Shakespeare. Oh! Irving! Wonderful! Wonderful!
O pastor fez uma longa pausa. Depois, em torn oratório:
- Rapazes! Vós sois os Davids modernos. - Falava olhando fixamente para Vasco. - Precisais matar o Golias do pecado, do vício, da... aaah... intemperança. Deveis matar o Golias do... aaah... índiferentismo. - Soqueou a mão esquerda com a direita. - Deveis com o fundo da Fé ferir bem no olho, bem no olho o gigante... aaah... o gigante do Mal!
Ergueu a mão profética numa ameaça. (Lembrou-se daquela noite, no teatro do seminário: ele a falar do alto da montanha de papelão pintado.)
- Os rapazes devem ser puros, devem ser obedientes, devem temer a Deus!
E olhava sempre para Vasco. Estava soberbo, como no final de A Voz do Sinai.
Soou uma sineta. Era o fim da Escola Dominical.
À saída do templo, o reverendo disse a Vasco, depois de um forte aperto de mão:
- Volte de novo, rapaz. Sereis sempre bem-vindo.
Julho entrou com geadas fortes. As laranjas e as bergamotas amadureceram. E naquela manhã, assomando à janela do quarto, Vasco descobriu a laranjeira do quintal toda pontilhada de frutos cor de gemada.
Desceu. Soprava um ventinho frio que cheirava a orvalho. O ar tinha uma transparência de vidro. A sombra do muro dividia o estreito pátio em duas zonas: uma, cor de violeta, outra, cor de ocre. Havia ainda geada nos telhados úmidos e limosos, em cima do muro, nas folhas da laranjeira.
Vasco apanhou uma laranja, abriu o canivete e começou a descascá-la. O cheiro acre da casca cortada acordoulhe velhas lembranças. E ele se lembrou das correrias da infância, com o negro Xexé, a negra Conca, o Pé de Cachimbo e o resto do bando...
Sentou-se num caixão ao sol. Olhou para o fundo da casa. Viu as duas janelas lá de cima. Mais abaixo, as da casa de Fernanda. A parede limosa, com manchas de umidade, e uma larga falha no reboco.
Fechou o canivete e começou a chupar a laranja. O sumo estava gelado: doeram-lhe os dentes. Tinha de ir ao dentista. Mas cadê dinheiro? Também precisava de sobretudo: o inverno estava brabo.
A vida era muito engraçada. Havia dias, semanas, meses cheios de acontecimentos excitantes. Depois vinham períodos vazios, de calmaria, de esquecimento - épocas em que as criaturas e as coisas pareciam não ter o menor sentido. Mas lá um dia a gente como que acordava, pensava no passado, olhava em torno, atarantadamente, tomava gosto de novo pela vida e só se admirava de duas coisas: do milagre de ainda estar vivo e de não ter dado pela passagem do tempo.
Que tinha feito ele nos seus meses de Porto Alegre? Virado a cidade pelo avesso. Procurado emprego em todos os cantos, inutilmente. Burlequeara pelos subúrbios. Pelos bairros ricos e pelos bairros pobres. Enchera o seu caderno de sketches: casas, jardins, cabeças, ruas... Tomara notas. Descobrira, nos arrabaldes, recantos desconhecidos, tipos raros. Aquilo de certo modo tinha o sabor duma viagem ao redor do mundo.
A zona dos Moinhos de Vento, com os seus palacetes em torreões, seus chalés, seus jardins muito limpos, com ciprestes, pinheiros e nurses uniformizadas - parecia uma cidade alemã. Depois - contraste horrível - havia os casebres dos Navegantes, em terrenos alagadiços, as crianças pobres brincando no barro de mistura com os bichos domésticos. E havia a zona das fábricas. S. João, o bairro dos operários, era uma cidade à parte. E como eram belos e verdes e veludosos ao sol de inverno os morros da Glória e de Teresópolis! Na cidade baixa ele vira casas antigas, calçadas e ruas estreitas, gente janeleira, velhos que esperavam a morte sentados em bancos de jardins de estilo antiquado, ou em cadeiras enfileiradas na calçada, à maneira da Porto Alegre provinciana. Bonfim era um pequeno ”ghetto”.
Todos os dias Vasco fazia descobertas que o deixavam emocionado.
Mas havia momentos amargos. Era quando lhe faltava dinheiro. Quando chegava o fim do mês, ele evitava, constrangido, o pessoal de casa. Sentia-se um parasita, um explorador... Em junho, felizmente, conseguira, por intermédio de tio Couto, um trabalho que lhe rendera duzentos mil-réis: pintara cartazes para uma vitrina. Mas o dinheiro criara asas..,
E ele sentia uma censura permanente nos olhos de D. Clemência. Ah! mas vergonha, mesmo, ele tinha era de Clarissa...
Atirou fora o resto da laranja.
Aquilo não podia continuar. Precisava encontrar trabalho ... Viera com tanta esperança... com a impressão de que ia conquistar a cidade, o mundo. Parecia-lhe tudo tão fácil... Imaginava que todos os caminhos se abririam para ele. Nada disso entretanto acontecera.
Entregou-se a reflexões tristes.
Clarissa ia todas as manhãs para Canoas, encolhida de frio, de nariz muito vermelho. Fernanda saía um pouco mais tarde: seu colégio ficava no Partenon. Noel ia para o jornal às dez. Só ficavam nas duas casas as velhas, o bebê... e ele, Vasco.
Eu, o marmanjo!
Ergueu-se e começou a caminhar pelo pátio.
Do outro lado do muro apareceu uma cabeça.
- Buenos dias, amiguito! Era Don Pablo.
- Olá, camarada!
Don Pablo mostrou-lhe um jornal.
- Leyó usted los periódicos de hoy?
- Não.
- El mundo, amiguito, llegó a su término, a su término, a su término.
Falava com ênfase, sacudindo a cabeça leonina.
- La única cosa que puede salvar Ia humanidad, es el anarco-sindicalismo. Hay que ver, hay que ver...
Don Pablo alimentava gordas ilusões com relação a seu partido. Dizia-se secretário-general dei Partido Anarco-Sindicalista dei Brasil - organização puramente imaginária, mas que lhe dava um trabalho insano. Por isso preferia deixar à mulher as tarefas sucias aburridas do ganha-pão. Era um líder. Um conductor de hombres, não podia preocupar-se com ias cosas triviales dei vivir. Tentara a fotografia e fora um fracasso. Era fastidioso ficar preso num quarto escuro. Precisava de sol, de sol, de sol, de aire libre, para pensar, para pregar suas ideias. Enchia a boca quando falava na organización de los obreros de todo el mundo, bajo Ia bandera dei anarco-sindicalismo. E, enquanto isso, a mulher se matava na cozinha, ao calor do fogão, fazendo doces, e ainda à noite ficava até alta madrugada a pedalar a Singer.
Um dia, como alguém por troça lhe chamasse ”folgado”, Don Pablo se indignara:
- Dicen que no trabajo, eh? Bien. Ustedes se enganan. Quién hace el ajuste de cuentas con los vendedores? Yo.Quién hace los contratos con Ias confiterías? Yo. Quién superentiende los negócios? Yo. Entonces?
- Mercedes tinha prazer em trabalhar para o marido, que admirava profundamente. Esperava dele grandes coisas. Achava que Pablo não era, como tantos outros, um pobre-diabo. Não, o seu Pablo sabia onde tinha o nariz e um dia, se Deus quisesse, ainda havia de ter importância na vida. E por isso cercava-o de cuidados maternais. - Pablo, não te resfries. Olha o vento encanado. Bota as galochas, meu filho. Não vás pra rua, que está chovendo.”
E quando o marido saía, ela o acompanhava até a porta. Don Pablo beijava-lhe a testa, chamava-lhe preciosa e saía no seu caminhar miúdo e contente de torero. Na primeira esquina voltava-se invariavelmente e fazia um cumprimento floreado para a mulher, que continuava à porta.
Saía pelos cafés a conversar com os amigos. Tinha uma rodinha de admiradores. Pagavam-lhe vermutes, cafezinhos, chopes. Don Pablo quase sempre tomava conta da palestra.
Um dia alguém lhe perguntou por que não falava português.
Don Pablo explicou com uma parábola:
- Es que el clavel puesto en un cantero de rosas pierde su olor particular? No. Asi soy yo. Hablo mi lengua. Gradas a Dios (dizia-se ateu mas não perdera o hábito de invocar Deus) el português y el castellano son lenguas hermanas. Y ias rosas se pueden comunicar con los claveles. Verdad? Verdad? Verdad?
Vasco contemplava Don Pablo. Já lhe fizera um retrato, que o espanhol pusera numa moldura dourada, em cima da mesa de sua ”oficina”.
- Hay que aceptar el materialismo histórico. Hay que aceptar...
- E... - fez vagamente Vasco, que nunca chegara a compreender direito o materialismo histórico. - A vida está um buraco.
- China - continuou o líder - se divide y se une, se une y se divide. Cofio, hombre! N adie entiende a los chinos! Eljapón tiene el ojo fijo en Ia Manchuria. Claro! Los japoneses son um pueblo fuerte, necesitan de tierra, de expansión, de expansión, de expansión! - E berrando a palavra expansión ele abria desmesuradamente os braços. - Bueno. Áustria. Hungria siguen siendo un problema. Santo Dios, para donde irá Espana? Y Francia, aliada a los Soviets? E Inglaterra, con el gérmen de Ia revolución y sus colónias! Hay que ver, hay que ver...
Vasco escutava. O outro falava numa torrente, não lhe dando tempo para dizer nada. Don Pablo ia continuar com o seu panorama do mundo quando uma voz fina de mulher saiu pela janela da cozinha de sua casa.
- Pablo! O café está pronto.
- Ya vo-oy! - cantarolou ele. E, olhando para Vasco:
- Lê repito, joven, el anarco-sindicalismo puede salvar el mundo. Ya verá, ya verá, ya verá.
Desceu do muro e foi tomar café.
À janela da casa de Fernanda apareceu D. Eudóxia com a neta no colo. A criança berrava. Vasco gritou:
- Que é que a Anabela tem?
- Eudóxia fez uma careta e encolheu os ombros: não sabia.
Anabela continuava a chorar.
No quintal vizinho um peru pôs-se a grugulejar. A sombra do muro ia se estreitando, O sol tomava conta dos quintais.
O minuano varria as ruas. O céu parecia um lago congelado onde as estrelas tremessem de frio.
Quando D. Magnólia abriu a porta para o Dr. Seixas entrar, uma rajada gélida invadiu a sala. Orozimbo tremeu, encolheu-se e pensou na morte. O Rev. Bell teve a impressão nítida de que a onda glacial saíra da própria boca daquele terrible old man quando ele dissera: ”Boa noite!” Todas as suas palavras tinham uma qualidade imoral, por mais inocentes que fossem.
- Minuano desgraçado! Aaah! - rosnou o médico, baixando a gola de veludo do seu velho sobretudo preto e seboso. - Prazer em vê-lo, reverendo.
O pastor resmungou um monossílabo.
Orozimbo encolheu-se debaixo do xale que tinha sobre os ombros. Estava deprimido. Tinha horror ao vento. Sabia que ia passar uma noite pavorosa, de olhos arregalados, sentindo um frio na alma, ouvindo o minuano uivar lá fora. Desde menino tinha medo do vento. Lembrava-se daquele dia de inverno em que fora pela mão do pai visitar o túmulo do avô. A terra estava úmida. Garoava. Um céu de chumbo pesava sobre o mundo. Ele sentiu pena e medo dos defuntos estendidos debaixo da terra fria. Como estavam horríveis os túmulos naquele dia cinzento! ”Papai, to com medo!” - choramingou ele. Mas o pai, sem ouvi-lo (era o vento que uivava como um doido, apagando todos os outros sons) puxava-o sempre. Estava pálido como um defunto. Tinha também ”aquilo” no estômago. E como gostava de ir ao cemitério, como tinha prazer em falar em coisas de morte! E o vento assobiava e sacudia os ciprestes escuros e molhados, e derrubava as velas e as cruzes, fazia bater o portão enferrujado do cemitério, despetalava flores murchas, roçava na cara da gente, frio como a mão dum morto. O vento... E nunca, nunca mais ele pode esquecer aquele dia... O pai junto do túmulo branco, olhando, enquanto o vento lhe revolvia os cabelos...
- Que é isso, maricóide? - berrou o médico. Orozimbo emergiu da região das lembranças para cair
numa zona ainda mais terrível. O doutor estava à sua frente.
- Dormindo?
- Não... Estava pensando...
O doutor sentou-se. D. Mag e o pastor entreolharam-se. O inimigo comum chegara. Sabiam que dali por diante não poderiam mais conversar em coisas sérias. E que o diabo do homem tudo faria para os escandalizar, para os desfeitear, para os ofender...
- Como vai a flor?
Era uma pergunta ociosa. Ele mesmo sabia que a flor crescia, num permanente desabrochar, alimentando-se da vida do pobre Orozimbo e que nada mais neste mundo poderia impedir que ela continuasse a vicejar. Havia qualquer coisa que impedia que ele sentisse piedade pelo doente. Uma força poderosa que resistia a todos os argumentos da razão. Ele detestava as manifestações claras de sentimentalismo e só sabia exprimir a sua afeição em termos de brutalidade, em gestos bruscos, nomes feios, blasfêmias. Sempre fora assim: não havia de mudar depois de velho. com relação a Orozimbo, porém, tudo mudava de figura. Não havia afeição possível e nem ele mesmo sabia o que o mantinha ligado àquela casa. Talvez pena de Lu. Talvez o prazer de irritar D. Mag e o reverendo. Talvez... Diabo! Ele nem sabia. Sentia que era bárbara a sua atitude, que ela valia por um perjúrio (para o inferno as juras, compromissos e formalidades!). Sempre achara Orozimbo um brutalhão pretensioso, cheio dum orgulho desmedido, provocante e agressivo. Julgava-se o sal da terra. Ele era o mais belo, o mais inteligente, o mais rico, o mais culto, o mais bem vestido... Humilhava os amigos, ria-se deles, ridicularizava-os. E ele, Seixas, por mais que se esforçasse, não podia esquecer aquilo. Era estúpido, mas era verdade.
- Onde está a Lu? - perguntou, olhando para D. Mag. Fez-se um silêncio de embaraço. Foi Orozimbo quem falou:
- Está no quarto.
O doutor franziu a testa. Acendeu um toco de cigarro, olhou do reverendo para D. Mag e depois rosnou:
- Já andaram de novo incomodando a menina? Aaah! Velhada idiota! Que foi que houve?
Novo silêncio. Seixas encarou o doente. Orozimbo baixou os olhos.
O médico atravessou o compartimento em passadas largas e entrou no quarto de Lu.
Ficou por um instante perdido na escuridão. Depois foi aos poucos divisando os objetos. Viu o vulto da menina estendido na cama. Sentou-se a seu lado.
- Que é isso? - perguntou, brusco. - Que é isso? Ela chorava baixinho.
- Não dê confiança pra essa velhada. Não chore. Que é que adianta chorar? Tá que eu te trouxe.
Tirou do bolso três barras de chocolate e botou-as no travesseiro, ao lado do rosto de Lu. A menina continuava imóvel. O Dr. Seixas coçou a cabeça.
- Isso se arranja. Ué! Perdeu a coragem? Não fala mais com o seu amigo? Então?
Nada.
- Olhe o chocolate. Daquele com leite que você gosta. Então, conte por que foi...
Depois dum instante ouviu-se a voz abafada e chorosa de Lu.
- Eu ... eu estava conversando com ele . . .
- Ele quem?
- O Olívio ...
- Ah...
- O reverendo entrou . . . contou pra mamãe . . . ela veio . . . então . . .
Não pôde mais falar. Desatou num choro convulsivo. Na varanda D. Mag cochichava para o pastor:
- O doutor estra’a tudo. Não se pode. A ’ente repreende mas ele vem e acha ’e a menina tem razão... É sempre assim.
De braços cruzados, muito vermelho, o Rev. Bell sacudia a perna direita, com a esquerda cruzada por cima dela.
- Seja energética, D. Magnólia. - Bateu com a mão direita fechada na palma da esquerda. - É preciso fazer face... aaah... à situação. ”Quem não é por mim è contra mim.”
Orozimbo tremia de frio. Sentia-se abandonado. Todos se preocupavam com Lu. Que importava Lu, que importava tudo o mais, se ele ia morrer, se estava perdido? Era malvadez, era desumanidade... O mundo continuava a rolar. E não havia força humana que o pudesse salvar daquela morte. Todos continuavam a viver naturalmente, como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Por que aquela resignação da mulher? Por que a indiferença hostil da filha? Por que a brutalidade do Seixas, velho conhecido de tempos antigos? Por que, se ele ia morrer? Não era um ser humano, uma criatura de carne e osso, um filho de Deus?
Deus... Ele temia agora o Deus que tantas vezes insultara nos tempos de mocidade, e saúde. E o Rev. Bell vinha todas as noites ler-lhe trechos da Bíblia, fazer-lhe sermões particulares, contar-lhe histórias de homens convertidos ao Evangelho. E quando o pastor ia embora ficava a mulher a lhe encher os ouvidos com as mesmas ideias, a dizer-lhe quase as mesmas palavras. Queriam que ele se arrependesse de todos os pecados antes que fosse tarde demais. E se empenhavam furiosamente em lhe salvar a alma. Mas por que não lhe salvavam a vida? A morte era pavorosa, a terra, fria, o vento, gelado nos ciprestes e o nada, o nada, o nada. Viver era bom! Era bom mesmo com aquela coisa a lhe roer as entranhas. Viver era o que importava! E ninguém parecia compreender aquilo... Era um abandono. Uma traição. Senhor! Senhor!
Tinha sonhos maus, aflitivos em que sempre encontrava Deus, um Deus de mil formas, a lhe dizer que se arrependesse antes que fosse tarde demais. E ele então se sentia mais inclinado a aceitar os conselhos do Rev. Bell. Tinha, porém, graves dúvidas. Fora educado num meio católico. A Igreja Romana lhe dava uma impressão de maior segurança. A sua antiguidade, os seus santos, o seu ritual, as imagens misteriosas nos nichos, as velas, o incenso . . . O catolicismo falava mais fundo de Eternidade. O protestantismo era frio, despido, sem mistério. E ele hesitava...
- Mag e o pastor discutiam animadamente quando o Dr. Seixas saiu do quarto de Lu. Ficou à porta, de olhos piscos. Depois caminhou pra mesa do centro, pegou a Bíblia de couro negro, abriu-a e leu a dedicatória:
- À Srta. Luciana para que ela encontre o Caminho, a Verdade, e a Vida, afetuosamente, Rev. H. W. Bell. Caminho nada! Então, reverendo, isso é livro que se dê a uma moça? Francamente, pastor, nunca pensei... Envenenando as ovelhas...
O Dr. Seixas antegozava a sua vingança. Ia atormentar D. Mag e o ministro. Que importava o dia cansativo de trabalho sem lucro? Que importava aquela sucessão repugnante de corpos sujos e suados, de doença e desgraça, de feridas, sangue e pus? Que importava?
Abriu o livro com delícia e continuou:
- Ouçam isto! - Leu. -Aplique ele os lábios, dando-me o ósculo da sua boca; porque os teus peitos são melhores que o vinho. - Estralou os lábios -... por isso as donzelinhas te amaram. Francamente, reverendo... Huáhuá.
O Rev. Bell ia ficando cada vez mais vermelho e perturbado. D. Magnólia perdeu a voz. Orozimbo sofria, na sua aflição. Vontade de rir. Mas rir, ele, ao pé da cova, ele, com aquilo no estômago? ...
-... os teus peitos são melhores que o vinho. Outra vez? O patife insiste. Sim, senhor!
O padre levantou-se e foi pegar o chapéu.
- Espere aí, pastor! Escute esta: O meu amado... aaab... tal, etc. .. olhe: ele morará entre os meus peitos. Sim, senhor, no livro sagrado!
- Mag levantou-se.
- Ora, reverendo. Não vá ainda. O doutor. .. ora... desculpe.. . Doutor, por amor de Deus, pare com isso!
Seixas soltou a sua monstruosa gargalhada. Prosseguiu:
- Que patife, esse Salomão. E esta?... ali é que tua mãe foi corrompida, ali é que perdeu a sua pureza e que te gerou... Esta é do outro mundo: foi debaixo da macieira. .. Sim, senhor!
Vermelhíssimo, o reverendo caminhou para a porta. Mas, de súbito lhe veio a ideia de que aquilo era uma retirada. Lembrou-se dos seus dias de missionário nos desertos da Manchúria. Enfrentara bandidos. A troco de que ia fugir dum ”old fool” como aquele?
Voltou-se. Depôs o chapéu em cima da mesa e caminhou para o Dr. Seixas, que ria desatadamente.
- Preposteroso! - exclamou ele, não podendo achar na sua ira uma tradução para preposterous.
E, erguendo-se na ponta dos pés para deixar cair em seguida o corpanzil, num balanço nervoso, o Rev. Bell cruzou os braços e desafiou:
- Se o doctor Seixas deseja discutir a Bíblia comigo, eu estou pronto! Faça os seus objeções.
O médico jogou a Bíblia para cima da mesa, tirou do bolso um cigarro e com voz serena, pediu:
- Me dê o fogo, primeiro.
Agora Noel era frequentemente arrancado de seus devaneios pelo choro da filha. Acordava, porém, sem irritação, ficava num alvoroço, corria dum lado para outro (será ouvido? será a barriguinha? que será?), procurava ajudar Fernanda, corria à farmácia. E, interessando-se assim pela criaturinha, forçando-se a tratar de assuntos terra-a-terra ele descobria também que era humano, que podia achar um certo encanto nas coisas simples. (Ou era ilusão?) A filha agora o prendia à terra. E eram laços que à medida que os dias passavam iam ficando cada vez mais fortes e doces.
Quando vira Anabela no hospital tivera uma estranha sensação: desgosto de ver um boneco de carne, enrugado, vermelho, de olhos piscos, a balir como um carneirinho; e medo diante do grande mistério da vida que tornava possível o milagre de nascer. A tudo isso se misturava um certo orgulho - porque finalmente ali estava o seu filho, um ser de carne e sangue, que se movia, que chorava, que respirava, que tinha um coração pulsando. Não era um poema, nem um conto de fadas, nem um sonho imponderável, nenhuma abstração literária. Por fim todas essas impressões deram lugar a uma suave sensação de felicidade que vinha da presença daquela criança em sua casa, e da certeza de que ela havia de crescer, e um dia dizer: ”Papai.’.
Noel sentia que sua vida mudava.
Durante quinze dias não pegou num livro, numa revista. Esqueceu o romance no fundo da gaveta. Quando voltava do trabalho, ia direito ao berço da filha e, abraçado com Fernanda, ficava olhando a maravilha...
- com quem é parecida?
- Contigo.
- Não, acho que é contigo.
- Tem qualquer coisa do Pedrinho...
Mas vieram os sustos. Quando Anabela era tomada dum acesso de tosse convulsivo, D. Eudóxia previa desastres. A criança ia se finar... Ela conhecia uma que tinha morrido assim. Podia ser também meningite. Ninguém estava livre... E, depois, aquela casa fria, aquele inverno brabo...
Uma noite Anabela rompeu a chorar forte. Tinha o rosto arroxeado. Fernanda deitou-a de bruços. Podia ser dor de barriga. O choro, porém, continuou.
Agoniado, pálido e infeliz, Noel correu para a rua, foi chamar o médico. O Dr. Seixas apareceu furioso. Estava já na cama. Fazia um frio de gelar.
Entrou pisando duro.
- Isso é manha! Isso é manha dessa sem-vergonha!
Lavou as mãos enquanto Noel esperava, de olhos arregalados, e Fernanda ninava a filha, caminhando com ela nos braços dum lado para outro.
- Me deixe ver isso - disse o doutor com maus modos. Examinou a criança.
- O remédio pró ouvido - pediu.
Trouxeram. Ele pingou uma gota em cada ouvido. Esperaram. Anabela continuava a gritar. Atrás duma porta D. Eudóxia espiava, agourenta.
O Dr. Seixas deitou o bebê na cama do casal.
- Tirem a roupa dela - ordenou.
Acendeu um cigarro e esperou. E quando viu a menina nua, esperneando em cima da colcha branca, inclinou-se. Houve um instante de expectativa ansiosa. De repente o doutor se empertigou bruscamente e vociferou:
- Quem foi a vaca que vestiu esta coisa? Noel e Fernanda se entreolharam.
- Foi a mamãe... - disse ela.
- Eudóxia apareceu. O médico precipitou-se para ela:
- Sua velha idiota e desastrada! Quase me mata a criança! Quase me mata a criança!
E dizendo isto brandia a grande mão de dedos amarelados de iodo, na frente do rosto cinzento de D. Eudóxia.
- Eu? Eu?
O Dr. Seixas se aproximou da cama e mostrou:
- O alfinete de segurança entrou na caminha dela... Não sabem arrumar cueiros? Podiam ter matado. Aaaah!
Acendeu o toco de cigarro que tinha na boca. Anabela esperneava na cama. Tinha um arranhão vermelho à altura do rim esquerdo.
Sustos como esse se repetiam, e assim passavam os dias. Fernanda voltara a cuidar de suas aulas. D. Eudóxia ficava tomando conta da criança em sua ausência.
- Esses diabinhos... - resmungava. - Dão tanto trabalho, depois crescem e não são mais da gente.
- Clemência descia. D. Magnólia quase sempre aparecia quando Noel e Fernanda estavam fora. O ”conselho” entretinha longas sessões. E uma a uma, elas iam tendo os seus vestidos ”balizados” por Anabela.
- Hoje está tudo tão diferente... - dizia D. Clemência. - Antigamente havia menos luxos, menos remédios, mas as crianças se criavam mais sadias...
- Inventaram muitas moléstias novas... - opinava D. Magnólia.
E D. Eudóxia:
- Imaginem que hoje até banana se dá pras crianças de colo. No tempo de dantes banana era veneno...
E, na presença de Anabela, passavam a falar nos dissabores da vida. E vinham as queixas, as lamentações. E cada qual se esforçava por parecer mais infeliz que as outras. E se, no meio da conversa Noel ou Pedrinho entrava, elas se calavam de repente, como que obedecendo a uma combinação. Era um inimigo que surgia. Havia muito tinham compreendido, embora de maneira obscura, que os moços são inimigos dos velhos e que entre uns e outros a guerra era inevitável. Não havia entendimento possível.
Fernanda às vezes se sentia sufocada de felicidade. Que importavam aquelas trabalheiras todas? - a longa viagem de bonde até o colégio, no Partenon; as má-criações dos alunos; as contas atrasadas; o inverno duro e aquele seu casacão velho e feio... - que importava isso tudo se agora ela tinha Anabela? Pedrinho, D. Eudóxia, Noel, Anabela - todos eram seus filhos - quatro filhos! A casa estava mais barulhenta que antes. A vida dentro dela ganhara agora um ritmo acelerado. Já não lhe sobrava mais tempo pra trazer a casa arrumada. Não podiam alugar criada. Ela mesma tinha que lavar os pratos (mal ajudada pela mãe); cuidar da roupa do marido e do irmão; controlar as contas; arrumar as camas; passar um pano no soalho aos sábados; fazer um milhão de pequenas coisas. Felizmente tinha leite e podia amamentar a filha. Gostava de vê-la chupar-lhe o seio valentemente, achava engraçadíssimo quando o leite espirrava, borrifando-lhe os olhinhos, que ficavam piscando. De quando em quando D. Magnólia lhe vinha pedir socorro: era uma má-criação da filha ou uma impertinência do marido. E Fernanda muitas vezes deitava Anabela no berço para ir apaziguar Lu ou consolar Orozimbo que chorava. ”Mas seu Zimbo, o senhor não vai morrer. Quem foi que disse? Essa doença é assim mesmo.” Dizia estas palavras sem convicção, apavorada pela cara cadavérica do vizinho. Depois voltava para a filha.
Pedrinho preocupava Fernanda. Não faltava uma ”conhecida” que viesse contar os namoros feios do menino com uma moça da cidade baixa. D. Eudóxia suspirava e sentia-se infeliz. Tinha medo que o filho ”inventasse de casar”. Seria um desastre. Era uma criança e ganhava muito pouco.
E nessa tontura, zonza e feliz, Fernanda via passarem os dias. Quando ia deitar-se estava tão excitada que não conseguia dormir senão muito tarde. Muitas vezes, no silêncio da noite, ouvindo a respiração suave e regular do marido, e, num outro ritmo absurdamente muito mais audível, o respiro da filha - ela pensava na vida. Admirava-se da sua transformação. Quando era solteira (para falar com precisão, havia menos de cinco anos) tinha os seus problemas íntimos, as suas dúvidas e as suas inquietações. Lia muito e gostava de pensar no mistério da vida, na finalidade de toda esta luta, de toda esta trabalheira. Deus existia? Que era na verdade ”ter fé”? E, aprofundando bem, que era o mal, que era o bem? Olhando o mundo: as injustiças que via nele a revoltavam. Sentia desejos de lutar, de fazer alguma coisa em benefício dos que sofriam. Não queria viver egoisticamente a sua vida. Terminaria o curso na Escola Normal e dedicaria seus dias, seu esforço a algo que fosse nobre, bom e desinteressado. Passara a primeira infância em Porto Alegre, onde nascera. Já mocinha, fora com os pais morar numa cidade da fronteira, onde ele fundara um jornal de oposição. Como ela se lembrava do pai! Era um homem corajoso e bom, sempre animado, mostrando para o mundo uma cara risonha, aguentando com resignação as impertinências da mulher. Muitos figurões da política lhe haviam acenado com empregos e com promessas fascinantes. Mas ele se obstinava em ficar na oposição. Escrevia com uma coragem assombrosa, desmascarava as patifarias do prefeito, denunciava um chefe político como contrabandista de seda. No pai, ela, Fernanda, achara sempre um verdadeiro amigo. Conversavam longamente. Ele não era culto mas tinha uma inteligência clara e principalmente uma grande, admirável capacidade de compreensão. Fernanda admirava o pai, a sua coragem serena, a sua luta ingrata, perigosa e obscura. Um dia empastelaram-lhe o jornal. Capangas do prefeito esbordoaram-no na rua. Fernanda nunca mais esqueceu a tarde em que o viu chegar a casa nos braços de amigos, o nariz e a boca sangrando, as roupas rasgadas. Mas vinha sorrindo. ”Não é nada...” - dizia. E suas palavras saiam sujas de sangue. O tempo passou e ele conseguiu montar nova tipografia. O jornal tornou a aparecer. Surgiu implacável. Repetia as acusações anteriores, com uma veemência redobrada. Tentando recompor lembranças daquele tempo escuro, Fernanda não conseguia construir na memória um quadro nítido. Porque havia uma cena horrorosa a se superpor a todas as outras. Foi numa noite de inverno. Um amigo da casa chegara esbaforido: O Lucas está muito mal. Balearam ele no peito. E pouco depois o trouxeram numa padiola, já cadáver. Foi um inverno negro, aquele! A lama. O frio. O vento. A saudade do bom amigo. A consciência dolorosa daquela injustiça. A certeza de que o figurão acusado de contrabandista fora o mandante do crime...
Mudaram-se para Porto Alegre, onde a vida continuara difícil. Fernanda estudara com sacrifício. O pai deixara um seguro medíocre - que lhes valera apenas nos primeiros tempos. E de repente, vendo-se cheia de obrigações de chefe de família, ela esquecera os seus problemas íntimos. Tinha de cuidar da casa, controlar o irmão, orientar a mãe, que com facilidade se entregava ao desânimo e ao pessimismo. Solicitada pelo terra-a-terra cotidiano, ela esquecera os velhos ideais.
Mais tarde encontrara Noel, companheiro de infância. Reataram a camaradagem. Depois veio o amor. E ela sentiu então que ganhava mais um filho. Abandonou de todo as cogitações em torno do mistério do ser. Ria-se delas agora. Tinha de pensar em coisas mais graves: o fim do mês. Os problemas do estômago sobrepunham-se aos do espirito. E o próprio espírito parecia não ser alheio às necessidades do estômago.
Agora ali no berço estava Anabela. O quarto filho. Mais uma preocupação!
Nos silêncios de suas noites insones, Fernanda pensava na vida, no passado, e no que tinha a seu redor no momento. Não pensava muito no futuro. Pressentia lutas subterrâneas. Os velhos males do seu Estado e do seu país não tinham acabado só pelo fato de ela os ter esquecido, solicitada por exigências mais imediatas. Em algum laboratório misterioso e obscuro se preparavam grandes acontecimentos. Que viria amanhã? Que grandes catástrofes? Que grandes transformações? Haveria um dia paz e felicidade sobre a terra? Por outro lado lhe vinham estes pensamentos: A finalidade da vida que ela buscara antes nos livros de Filosofia não seria aquela de lutar pelo seu quinhão de felicidade no mundo, ajudando ao mesmo tempo os companheiros de luta? A vida em si só não justificaria a pena de viver? Oh! com todas as suas dúvidas, com todas as suas injustiças, com todos os seus absurdos - a vida era uma aventura fascinante.
Às vezes era já quase madrugada alta quando o sono vinha.
Naquela noite Vasco se sentiu infeliz. Olhou as estrelas e teve saudades de outro tempo. Mas de que tempo?
Saiu para a rua. Frio. Enfiou as mãos nos bolsos do casaco. Começou a caminhar. Procurou cigarros. Não tinha.
Quando entrou na claridade da rua principal, parou.
Sentiu quase vergonha. Estava tão mal vestido... Mas... que diabo! Praticamente não conhecia ninguém...
Meteu-se na multidão. À toa, sem pensar em rumo certo. Em dado momento sentiu que o seguravam. Voltou-se.
Era o conde.
- Ooooh! - fez ele.
Oskar apertou-lhe a mão com calor.
- O meu jovem amigo... Quanto tempo!
Estava elegantíssimo, num sobretudo de pêlo de camelo, trespassado, manta de seda branca, luvas e chapéu da cor do sobretudo. Uma suave fragrância de água-de-colônia cercava-o como uma aura. ””
- Mas então, conde? - perguntou Vasco, sentindo-se deprimido diante do outro.
Oskar tomou-lhe do braço. Saíram a caminhar lado a lado.
O conde contou que a vida para ele melhorara. Mais alunos: rendimento maior. Morava num bom hotel. E o meu jovem amigo?
Vasco enfurnou-se num silêncio sombrio. Chegaram à frente dum cinema.
- bom, conde - disse o rapaz, bruscamente, estendendo a mão. - vou dando o fora. Estimei em vê-lo.
Disse isto quase agressivo. Sentia-se mal perto de Oskar. Era um absurdo andarem os dois juntos. Um tão bem vestido, tão elegante... O outro... Bolas!
- Boa noite.
O conde sorriu, compreendeu. Arrastou-o para o fundo dum café.
- Conhaque?
Vasco aceitou. Vieram dois copinhos. Beberam.
- O meu jovem amigo já está trabalhando? Vasco sacudiu a cabeça negativamente.
- Mas vou começar amanhã - mentiu.
O conde sorriu. Houve um silêncio breve. Falaram em diversos assuntos. Filmes. Livros. Mulheres. Depois, outro silêncio. Por fim, Oskar perguntou:
- Mas que é que você tem?
- Ué! Eu? Nada. Sorriu amarelo.
O conde acariciou o bigode.
- Olhe, sou quase vinte anos mais velho que você... Não leve a mal. - E brusco, mas sempre polido, sem nenhuma aspereza, perguntou: - Fale franco, está precisando de dinheiro?
Vasco teve vontade de sair correndo. Por um segundo o orgulho dos Albuquerques chispou-lhe nos olhos.
- Conde, por amor de Deus! Deixe disso. Não me amole.
Mas se arrependeu em seguida da violência com que repelira o oferecimento do amigo. Remendou:
- Quer saber duma coisa? Estou na mão. Ainda não encontrei trabalho. É essa a verdade. Mas de que me serve o dinheiro que você me emprestar? De nada. Amanhã vai-se embora. O que eu preciso é dum emprego. Garçon! conhaque. Pague então mais um conhaque.
Sairam a passear.
E nas noites que se seguiram Vasco encontrou-se regularmente com Oskar. Gostava de ouvi-lo falar. Iam a cinemas, a cafés. Passeavam, descobriam restaurantes e cafés exóticos em ruas suburbanas. Para Vasco, eram noites divertidas em que ele esquecia o seu draminha de desempregado, o inverno, os olhares de censura de D. Clemência e o seu grande, o seu monstruoso desejo de ”meter as patas em tudo” e sair pelo mundo sem destino.
Em muitas folhas de seu caderno de notas esboçara retratos do conde. Gostaria também de registrar as ideias de Oskar, as suas opiniões sobre a vida e os homens. Nos diálogos que entretinham na rua, nos cafés ou na penumbra dos cinemas, Vasco mais escutava que falava. Às vezes tinha a impressão perfeita de que estava diante dum blagueur. E para essa impressão muito contribuía o apuro com que se vestia, o seu monóculo, o seu ar distante.
Uma noite, num cinema, um jornal da Fox-Movietone mostrou-lhes uma missa rezada na Etiópia para um batalhão italiano. O altar improvisado, os soldados ajoelhados, uma grande cruz. Depois, a ”câmera” maliciosamente mostrou um quadrado de soldados armados de metralhadoras, protegendo os fiéis contra qualquer ataque eventual. O conde cochichou:
- Veja. Até a Fé é desconfiada. Nunca viu nas igrejas o pára-raio dissimulado atrás da cruz? Pois é. A Fé desconfia, meu jovem amigo. E desconfiemos sempre da fé que é cega. Porque ela se chama fanatismo.
Outra vez, num restaurante, ao fim dum jantar, o conde, a propósito de um detestável quadro que havia na parede, representando Apoio no seu carro de ouro, falou na arte e na vida.
- Primeiro havia a vida pura e simples... Gut. - Partiu a panqueca de banana e levou à boca um pedaço minúsculo. - Os homens viviam felizes na terá, comiam as frutas das árvores, bebiam a água dos regatos e não davam a menor importância ao céu, à lua, às estrelas... Olhavam para todas essas cosas com um sentimento quando muito de curiosidade... Não gosta de panqueca? Por que não pede outra sobremesa? Garçon! Mas... um dia um dos filhos de Adão caiu e quebrou a cabeça numa pedra. Depois do ak-cidente alguma cosa em seu cérebro ficou estragada... E o pobre homem começou a fazer lócuras... Riscando com uma varinha na areia, procurava reproduzir a forma das árvores, das montanhas, dos animais, dos outros homens ... Imitando o trinar dos pássaros inventou o canto... Acho que foi esse mesmo gentleman que inaugurou o adjétivo e começou a dizer as primeiras tolices a respeito da lua... Os outros olhavam para ele com pena... Veja a nota, garçon. Pois o nosso herói teve filhos e transmitiu a sua locura às pobres crianças que por sua vez cresceram, tiveram filhos e lhes transmitiram as maluquices do avô... - Deu uma nota de cinquenta ao garçon. - Fique com o troco. E assim nasceu o arte.
Vasco ria. Levantaram-se. Saíram. Já na rua, o conde continuou:
- Mas o mais importante vem agora... com o corer do tempo, quando a pintura da areia passou com cores para as telas para os muros, quando a poesia e o canto ganharam ekspresson gráfica é que o mundo começou a sentir o efeito pernicioso do arte...
- Não me venha com Wilde...
- Oh! Non... Espere. Os homens que nasciam e que, à medida que cresciam, iam lendo livros e vendo quadros começavam a ter da vida uma vison deformada. E quando faziam face à realidade, sofriam um traumatismo moral. Non encontravam a vida de que lhes falavam os pintores, os poetas, os escultores e os romancistas. Compreende? Céu sempre azul, heróis de fábula, paisagens bonitas, corpos perfeitos, paraísos, etc... etc...
- Palavras, conde, palavras...
- Tem fogo? Ah! Obrigado. - Acendeu o cigarro. Por isso o arte tem feito muita gente infeliz. No entanto o mundo é puro e simples como no dia da Creaçon. O ero, si há algum, está em nós e non na Natureza.
Caminharam por algum tempo em silêncio. E naquela noite Vasco só disse isto:
- Conde, olhe a cinza na gola do sobretudo.
- Merci.
Uma tarde de domingo, diante do lago do Parque da Redenção, Oskar mostrou-lhe os peixes.
- Veja.
- Que peixes são esses?
- Carpas. Eram sessenta no princípio. Hoje devem ser sessenta mil. Eis uma liçon de História Universal.
Um guri gordo e corado, que ali estava na companhia do pai, jogava nágua migalhas de pão. As carpas dum verde sujo e viscoso surgiam às centenas. Apareciam à superfície do lago, frenéticas, furiosas, espadanando, umas por cima das outras, disputando as migalhas. Agitavam as caudas, davam pulos para fora dágua, produzindo o ruído chiante como o que produziriam se caíssem numa frigideira com banha quente. A água estava coalhada de corpos verdes em estertor. Aquelas aglomerações emaranhadas davam uma ideia de nós de víboras. As migalhas caiam. A luta se encarniçava.
- Não sei por que, conde, mas isso me faz pensar na China.
- Eis a vida. Estômago e sexo. Intimamente ligados
- murmurou o conde. - Os grandes movimentos da História eston explicados neste lago. Gueras de conquista... Movimentos migratórios... Henrique VIII, a Igreja da Inglaterra. É a lição das carpas...
- Isso é bonito e ao mesmo tempo assustador... Mas eu penso... Será que além do sexo e do estômago não haverá algo mais? Olhe, conde... Explicar a vida assim de jeito tão seco, tão bruto... Vamos dizer: tão primário... Me desculpe, posso ser uma besta mas não concordo com você. Eu tenho fome; preciso de mulher. Está certo: estômago e sexo. Mas você não sabe explicar por que é que eu sinto desejo de viajar, por que é que sinto uma espécie de saudade besta dum lugar e duma gente que eu sei que nunca vi?
- No fundo, sexo também.
- Pipocas!
- As carpas - disse o conde apontando com a luva creme - non têm poetas nem oradores para vestir com palavras bonitas essas necessidades de reprodução e alimentação. São positivas. Sem o menor escrúpulo de ordem moral o pai dá uma rabanada no filho para roubar dele uma migalha. O filho tira o alimento da boca da mãe. A promiscuidade reina no mundo das carpas. Elas nem conhecem o remorso nem o pecado. - O conde falava com gosto, gozava as palavras, prolongava-as, lambia-as. - Se amanhã vier outra raça de peixes, haverá a guera. Assim como as carpas, os homens. E non admira que sejamos parecidos com as carpas. - Fez um gesto trocistamente solene. - Meu jovem amigo: Apresento-lhe os nossos remotíssimos antepassados.
E mostrou os peixes famintos.
- Conde, sabe duma coisa? Me deu uma bruta vontade de comer peixe. Vamos a um restaurante?
- com prazer. Mas não procure vestir com palavras bonitas e poéticas o seu apetite pelas carpas.
Voltaram a discutir a predominância do sexo e do estômago na vida do homem.
Vasco às vezes achava o conde um pouco contraditório. E via um conflito entre o seu ponto de vista brutal e cínico e as suas maneiras suaves, o seu amor aos perfumes, às boas roupas, ao conforto, ao culto do cavalheirismo.
- Mas conde, me diga uma coisa. Finalmente, que é que você é na vida? Não Compreendo.
Sereno, sem mudar o tom de voz, o conde explicou:
- Sou um homem pacífico que odeia a violência, o trabalho, a intolerância e os maus cheiros...
- Mas como é que vive num mundo que está cheio de todas essas coisas?
- O mundo para mim é um parque de máquinas mal cheirantes e graxentas, movidas por pobres homens suados, atarefados, infelizes e aflitos que puseram as máquinas em movimento e agora non sabem como fazê-las parar. Que remédio? Procuro viver da melhor maneira, com o mínimo de contatos. Atravesso o parque... como se diz?... esgueirando o corpo, fazendo voltas e procurando non ser atingido pela sujeira...
- Mas não poderá fugir por muito tempo, conde.
O austríaco ajeitou o monóculo. Encolheu os ombros. Se não fosse esse monóculo - pensou Vasco - eu acreditaria mais nele.
- Eu devia ter nascido numa outra época...
- Não me venha com a Grécia...
- Non faça mau juízo de mim. Detesto a idade clássica. Deviam ter tido a sua beleza... mas os literatos a estragaram.
- Então, qual a sua época ideal?
- Daqui a uma centena de anos, quando os homens tiverem compreendido que esse Frankenstein que fizeram, a máquina, deve ser explorado em seu proveito. Numa época em que a necessidade de trabalhar seja uma coisa microscópica. Precisamos domesticar as máquinas como os gatos. Não se ensina a um gato que ele não deve fazer certas inconveniências no soalho? Acho que uma máquina aperfeiçoada tem inteligência superior a um gato.
- Essa é forte. Deixe-me pensar...
- Non pense. Olhe aqui. Uma máquina subtrai, soma, diminui. Uma linotipo compõe um livro. Há máquinas que fazem sapatos, tecidos... Um gato ou um cachóro non faz nada disso.
- Sexo e estômago.
- Isso os animais comem e amam. As máquinas comem eodeiam. Comem óleo, carvon, gasolina, lenha. Odeiam o homem como o monstro de Frankenstein odiava seu criador. As máquinas deixam os homens sem trabalho. Quando podem, esmagam-lhe a cabeça, arrancam-lhe os membros ou lhe trituram o corpo inteiro.
- Conde, você é impossível.
- Thank you.
Um dia desciam ambos uma rua (era uma noite nevoenta e úmida) discutindo animadamente.
- Eu lhe afirmo: a obra de arte é uma doença do espírito - dizia o conde.
Vasco gesticulava.
- Pode-se então dizer que Fausto é uma doença do espírito de Goethe?
-... como a pérola é uma doença da ostra, o que não impede que a pérola seja mais bonita e valiosa que a ostra. Leu Maurois? Meipe, ou Ia Délivrance? Goethe e sua amada se encontraram depois de velhos: verificaram que estavam mortos. Só Werther, o suicida, continuava vivo. As ostras perecem. Ás pérolas son eternas. Mas... que diz dum uísque?
- Topo.
E durante duas semanas Vasco e o conde se encontraram todas as noites.
De repente Oskar desapareceu sem a menor explicação. Vasco procurou-o no hotel. O conde se havia mudado. Não souberam dar-lhe o novo endereço.
Gato-do-Mato voltou às vagabundagens solitárias. E por muito tempo mais não pôs os olhos no amigo.
O inverno mostrava a sua cara feia no dia cinzento e úmido, nas fachadas escuras, nas ruas cor de ferro e no céu de nuvens baixas e carregadas.
Sentindo um frio na alma, Clarissa fechou-se no quarto e escreveu no seu diário:
O dia está feio e triste. E eu ainda mais triste que o dia. A nossa vida mudou tanto que eu nem sei como é que a gente está ainda vivendo. Sem papai, sem o casarão, tudo é tão diferente!
Vasco ainda não arranjou emprego. Vejo que ele anda triste. Ainda ontem conversamos ligeiramente. Não posso saber se ele tem algum segredo.
Meu Deus! Eu tenho fé em Ti. Acho que não vais consentir que tudo na terra seja tão ruim. Espero que depois deste inverno, desta umidade, desta chuva, venha um dia de sol bem bonito e que Vasco encontre um emprego, tenha dinheiro para comprar um sobretudo. Meu Deus, Tu sabes o meu segredo. Gosto do Vasco! Gosto do Vasco! Para Ti posso confessar tudo. Não quero guardar o segredo só para mim. Preciso escrever. Seria horrível se alguém um dia viesse a descobrir tudo. E è a fé em Ti, meu Deus, e o amor que tenho por Vasco que me fazem ter esperanças e coragem. Tenho medo de Fernanda. Ela compreende tudo, aqueles olhos dela parece que estão lendo os pensamentos da gente. Por que foi que naquele dia ela falou em Vasco assim com um ar de quem sabia de tudo? Acho que ela desconfia! Ah! Mas eu sinto que Fernanda é a única pessoa do mundo a quem eu posso contar o segredo.
Meu Deus! Eu tenho esperança em Ti. E enquanto tiver essa esperança não me faltará coragem. A minha vida agora é dura. Eu mesma sinto que mudei um pouco. Foi como se tivesse vivido muitos anos em poucos meses. Mas estou resignada. Sofrer não deixa de ser bom. A gente fica mais forte, paga os pecados e olha os outros com mais bondade, com mais tolerância.
Gosto de escrever, porque este é o único desabafo que tenho. Não sei o que vai acontecer amanhã. Ao redor de mim vejo tristeza e alegria misturadas. Fernanda é tão feliz com a filha e eu também sou feliz por ser a madrinha da Anabela. Mas seu Orozimbo está muito doente e eles sofrem por causa da Lu, que é desobediente e desamorosa. Eu penso às vezes, como sempre pensei, nos mistérios das pessoas e fico apavorada porque por toda a parte vejo gente não se compreendendo. Meu Deus, por que será que as criaturas não se entendem? Era tão fácil...
Leio os jornais e vejo crimes, suicídios, roubos, brigas. Todo o mundo parece que enlouqueceu. Querem só se divertir, se divertir, se divertir. Eles se esquecem de Ti e das coisas que Tu mandas fazer. Por quê? Meu Deus! Protege-nos a todos. Dá um emprego a Vasco e não deixes ele se separar de nós. Nunca! Nunca! Nunca!
Clarissa fechou o diário.
Naquela mesma hora na casa de baixo, Noel estava com a filha nos braços. Anabela... O nome dela lhe soava na mente como um toque alegre de sino. Anabela... Ele faria um poema para a sua Anabela... Ninava-a com um trêmulo cuidado, um comovido medo. Era um brinquedo raro e delicado que tinha nos braços. Ao menor descuido, podia quebrar-se. Noel olhava para o sereno rostinho adormecido; as bochechas coradas, narizinho miúdo e redondo, a boca rosada e úmida...
Fernanda aquentava o jantar. D. Eudóxia punha a mesa.
Pedrinho entrou, barulhento.
- Ssst! - fez Noel.
O rapaz aproximou-se na ponta dos pés.
- Mas essa minha sobrinha é um bicho de feia - murmurou. - Barbaridade!
Sempre com a filha nos braços Noel aproximou-se da janela de vidraça embaciada. Lembrou-se dos tempos de menino, quando gostava de desenhar no bafo dos vidros, bonecos e letras.
Imaginou Anabela com três anos, trepada numa cadeira, riscando também na vidraça...
Anabela... Som claro de sino, nome de poesia... Anabelle Lee.
A criança abriu os olhos e ficou a olhar fixamente para o pai.
- Ela acordou! - anunciou este.
- Não faz mal! - respondeu Fernanda da cozinha. Só assim pode ser que não acorde de noite.
Noel quis fazer uma experiência.
- Pedrinho - pediu ele ao cunhado - bote na vitrola aquele disco onde está escrito En bateau.
Pedrinho procurou o disco, contrariado. Era uma das ”drogas do Noel”, dessas músicas que não tinham sentido para ele. Encontrou-o.
Aos primeiros acordes Anabela teve um estremecimento quase imperceptível. Mas não chorou. Sua cabeça voltou-se para um lado. Seus olhos pareciam procurar alguma coisa.
Noel contemplava-a, sorrindo. Sentou-se com ela perto da vitrola. A melodia enchia a sala e misturava-se no ar com o cheiro dos bifes que Fernanda temperava na cozinha. Por um instante Noel esqueceu a filha, pensando em tudo quanto aquela música lhe invocava. Cenas da infância. Paisagens esfumadas. Vozes perdidas.
Uma sensação de calor úmido nas coxas chamou-o à realidade. Ergueu-se, alarmado, apalpou os cueiros da filha.
- Fernanda! Venha ver o que esta sem-vergonha me fez!
E pela primeira vez Pedrinho, admirado, viu o cunhado soltar uma risada.
Escondido atrás da árvore, Amaro espiava Clarissa, que à esquina esperava o ônibus. A manhã estava cinzenta. Soprava um ventinho frio. Amaro sentiu na mão uma agulhada de gelo: uma gota de orvalho tombada do ramo nu do plátano. O ônibus parou. Clarissa subiu. O carro se foi.
Amaro saiu a caminhar. Nunca se sentira tão infeliz em toda a sua vida como naquela manhã. Tinha uma sensação de sujeira, rebaixamento, abjeção. Lembrava-se de Doce. A lembrança dela, do seu perfume nauseante, do contato flácido, morno e untuoso de suas carnes acompanhavam-no por toda a parte. Não havia fuga possível. Agora não era só a idade que o separava de Clarissa. O fato de ele ser amante de Doce (amante - tia Manuela
- pecado - tia Manuela morta, de olhos arregalados) afastava-o ainda mais da menina.
Amaro revoltava-se contra a própria covardia. Era preferível passar fome e frio nas ruas que ficar de barriga cheia deitado numa cama com a mulata, aquecido ao calor daquele corpo.
Na manhã seguinte à noite em que ela fizera ”aquilo” (tia Manuela - banho de camisola - os gatos são bichos imorais - vais ficar com o corpo torto e podre) ele saiu para a rua disposto a procurar outro quarto. Caminhou à toa pela cidade. Jantou num restaurante e verificou que o seu último dinheiro ia embora. Ao anoitecer sentiu frio. Pensou na cama. Foi para casa. Fecharia a porta com a chave. Mas... onde estava a chave? Alguém a tirara da fechadura. Decerto ela. Deitou-se, apreensivo. O quarto estava frio. Ouviu Temístocles passar cantarolando no corredor. O empregado aposentado tossiu: e para Amaro a tosse pareceu um sinal indecente. (Os gatos são bichos imorais - tia Manuela - o pecado.) Mas naquela noite Doce não apareceu. Ao acordar na manhã seguinte, Amaro encontrou pela primeira vez perto da cama uma bandeja niquelada com um bule de leite, um bule de café, xícara, e pão com manteiga. Ficou olhando para aquilo, indeciso. Mas por fim resolveu tomar o café e comer o pão.
Deitou-se, deprimido. Lera uma notícia que o deixara a pensar em mil coisas: Stravinsky dava concertos no Rio. Mas imediatamente a imagem de Stravinsky, trechos de Lê Sacre du Printemps e da Petruschka se misturaram com a cara, os braços e os seios de Doce. Amaro cobriu a cabeça com o lençol.
Acordou com um ruído. Quanto tempo tinha dormido? Mas chegara mesmo a dormir? Um estalido do soalho. Olhou. Um vulto branco caminhando pelo quarto. Ele ficou transido na cama, com o coração batendo acelerado. Era ela. Veio de mansinho, muito perfumada, com uma camisa de seda (a primeira vez que usava). Toda trêmula sentou-se junto de Amaro, acariciou-lhe a cabeça com a mão gorda, depois jogou as coxas para cima da cama e aninhou-se ao lado dele, dizendo-lhe palavrinhas carinhosas, diminutivos, como se falasse com uma criança mimada. Amaro pensava numa reação. Evitava aqueles beiços úmidos que lhe procuravam o rosto, recuava para a parede, esboçava tímidos movimentos de defesa. E, mau grado seu, ia sentindo um estranho calor no corpo, um vago desejo, mas um desejo contra o qual se revoltava - porque era absurdo, porco, (tia Manuela - os gatos) quase inexplicável... Por fim os braços dela o envolveram e ele se surpreendeu pondo no ato do amor toda a energia, toda a ferocidade que ele desejara empregar numa reação para repelir duma vez por todas aquela mulher odiosa.
E de madrugada, corada e feliz, Doce murmurou ao ouvido de Amaro:
- Boa noite, meu amore.
E se foi. A pobre cama rangeu. O soalho rangeu. A porta rangeu. Depois ficou o silêncio do quarto. Mas um silêncio poluído. E Amaro se entregou ao sono como se se abandonasse à morte.
E noites como aquela se repetiram.
Chegou o fim do mês. Constrangidíssimo, ele procurou a dona da casa. Não teve coragem de encará-la. Doce no entanto tratou-o com naturalidade, como se nada tivesse acontecido.
- D, Doce, eu queria lhe dizer que este mês eu vou faltar... Me refiro ao pagamento. Eu... eu ainda não arranjei emprego, mas logo que...
Doce botou as mãos na cintura e fez um ar de mamãe zangada:
- Não me fale mais em paga que nóis briguemo, hein? Não estou lê cobrando. Não pode paga, não paga.
Seus olhos pretos lamberam Amaro, amorosamente.
Naquele dia ela lhe levou o almoço no quarto. À noite mandou-lhe o jantar. No outro dia pela manhã, o café.
Amaro pensava na fuga. Arranjaria emprego. Havia de se libertar daquela escravidão. O maldito estômago, o maldito apego à vida era que o tornava assim tão abjeto, tão miserável.
E à medida que os dias passavam ele se atolava mais naquilo que sentia ser um fétido lamaçal.
O mais horrível era que via no sorriso do empregado público aposentado e nos olhares do mulatinho Temístocles uma maneira sutil de dizer: Seu pirata, nós sabemos de tudo. E tanto o velho como o rapaz iam tomando intimidades. Já entravam no seu quarto sem bater. Pediam-lhe coisas, opiniões. Contavam-lhe segredinhos. O rapaz lhe perguntou um dia à queima-roupa.
- Qual é que o senhor gosta mais? Do Clark Gable ou do Warren William?
De dia Amaro vagueava desnorteado pelas ruas. Pensava em mil modos de fugir. Pediria emprego ao primeiro conhecido. Iria trabalhar até como pedreiro, como motorneiro, como contínuo. Só queria o que comer e onde dormir. Era o bastante. Ou então sairia da casa de Doce com os bolsos vazios, deixando lá toda a sua bagagem. Não havia de morrer de fome. Em último caso, procuraria até a cadeia.
E quando se via longe do quarto, dava um balanço na consciência e então se admirava de tudo que estava acontecendo. Como era que um homem de sensibilidade, que fazia música, que se ocupava com Stravinsky, com Ravel, com Debussy, Beethoven; um homem que lia Keats e Shelley no original; um homem, enfim, que tinha uma visão artística da vida, que tinha um olho fino para descobrir o que existia de belo e harmonioso no mundo - como era que esse homem estava amarrado a uma montanha de carne flácida e escura?
Recordava trechos de seus poetas e músicos. Pensava em Clarissa. Olhava para o céu de inverno, dum azul frio e puro. Enchia-se de coragem. Ia lutar pela sua liberdade. Voltava para casa decidido.
Mas já no corredor sentia os cheiros familiares.
Doce sabia fazer bifes esplêndidos: grossos, suculentos, cheirosos... E o aroma deles andava no ar.
- Seu Amaro! - cantarolava ela. - A jantinha está na mesa.
- Já vou.
Ia. Comia. Era um covarde. Maldito estômago! Fazia protestos de não mais pisar naquela sala. Mas pisava. Todos os dias Doce inventava pratos novos para o seu ”amore”. E à noite ia cobrar em carícias amorosas os seus presentes culinários.
Havia vizinhos quase íntimos. Um casal sem filhos. A mulher vivia à janela. Quando os cumprimentava, Amaro corava de leve. Eles sabiam. Quase todo o mundo sabia. E a vizinha janeleira lhe perguntava: ”Como vai a D. Doce?” Ele respondia: ”Está com um pouquinho de dor de cabeça. Mas não é nada”. E odiava-se porque, respondendo assim, ia aceitando implicitamente a condição de amante, de marido.
Os dias de inverno passavam. Doce queixava-se de frio. Dizia sempre no fim das noitadas amorosas:
- É um horrore agora a gente ir pra cama sozinha. Tão friu, tão friu... - Falava tremido. - Dormir junto é melhor, não é, meu bem?
Em fins de julho Amaro chegou ao quarto e deu falta da cama. Doce pegou-o pelo braço e arrastou-o consigo.
- Tu não fica brabo, não é, amore? Cama de casal, é melhor... Tão ruim dormir sozinha...
Ele saiu para a rua, desesperado. Caminhou sem destino. Procurou fugir da terra pensando no seu poema sinfônico. Na sua cabeça toda uma orquestra imaginária tocava desesperadamente. Os violinos queriam arrebatá-lo para o céu, para as regiões estratosféricas onde não havia mulatas gordas, nem estômagos, nem coisas desagradáveis. E Amaro se deixava levar pelos violinos. Até que a fome, a sede ou o cansaço o chamavam de novo para a terra. Então ele voltava para casa. E tudo se passava como sempre.
Naquela manhã Amaro caminhava a ruminar pensamentos tristes. Agora em sua vida só existia aquilo de bom: ir todas as manhãs olhar Clarissa. Mas era como se a menina estivesse longe, no pico da montanha coroada de sol. E ele cá embaixo com os pés metidos na lama.
Vasco começou a sentir saudade de si mesmo. Onde estava o Gato-do-Mato decidido e orgulhoso, o chefe do bando, o que nunca conhecera o desânimo e o medo? Onde estava o rapaz truculento que se sentia com forças para conquistar o mundo?
Os dias passavam. Entrava agosto - um agosto nevoento, e frio, com chuvas longas. Clarissa saía de manhã para tomar o ônibus, ia encarangada debaixo do seu impermeável azul. Como tinha pena da prima!
Fernanda devolvera o dinheiro que ele emprestara, de sorte que lhe fora possível comprar um sobretudo. Vasco burlequeava pela cidade. Em fins de julho fizera um retrato: 50$000. Havia vagas promessas de outros retratos. Mas aquilo simplesmente não era vida!
Passava horas no quarto lendo os livros que Noel lhe emprestava. Quando aborrecia a leitura, desenhava. Andava inquieto. Era preciso conseguir algo de estável.
Um dia alarmou a casa. Chegou com o olho preto e o rosto lanhado. Vinha com um lenço no nariz e o lenço estava todo manchado de sangue.
- Meu Deus! Que foi, Vasco? - perguntou D. Clemência.
Clarissa, assustada, nem pôde falar.
Vasco fez um meio sorriso, sentou-se numa cadeira, tirou o chapéu, enquanto D. Clemência preparava água quente e Maravilha Curativa:
- Mas como foi? - tornou a perguntar ela.
- Uma briga...
Ele estava reticente. Clarissa com um pano molhado, limpava-lhe a lapela do sobretudo manchada de sangue.
- Mas briga com quem? - com uns caras...
- Clemência apertou os lábios. O guri estava reinando. Não adiantava perguntar. Mas os olhos de Clarissa suplicavam. Então ele contou:
- Eu ia caminhando pelo Bonfim e de repente ouvi uma gritaria, gente correndo... Fui ver. Uns camisasverdes estavam discutindo com dois judeus. Fechou o tempo. Eu vi o povo recuar e os camisas-verdes amontoaram o pau nos judeus... Pulei e comecei a distribuir socos também. Não tinha que fazer... Estava frio... Dei muita bordoada ... e também apanhei...
- Mas por que te meteste? Vasco encolheu os ombros.
- A gente anda por aí mesmo sem fazer nada...
- Do lado de quem ficaste?
- Dos judeus, é claro.
- Clemência ficou assombrada. Dos judeus!? Aquele menino estava mesmo doido varrido.
O mês de julho fora apertado, cheio de despesas inesperadas. Já a conta da luz correspondente a junho não havia sido paga. Viera a nota de julho. E mais tarde um aviso em que a empresa ameaçava muito delicadamente cortar a ligação. D. Clemência andava agoniada. Vasco tranquilizou-a:
- Não se impressione. Eu arranjo esse dinheiro.
40$600? Pois arranjo.
Ela fez um gesto céptico. Ele saiu. Correu os jornais oferecendo desenhos. Não vendeu nada. Quis empenhar o relógio, ofereceram-lhe só trinta mil-réis. Recusou. Aquele dia terminou sem resultado satisfatório. Vieram outros dias também de vagabundagens inúteis. E uma noite, ao chegar a casa, Vasco viu que estavam às escuras.
- Mas que é...?
Parou no meio da pergunta. Compreendeu. Se houvesse luz as mulheres veriam o grande rubor que lhe cobria as faces.
Voltou para a rua. Procurou Olívio no Cassino. Achouo embriagado e sem vintém. Arriscou no 18 o seu último dez mil-réis. Deu o 31. Voltou para casa desolado e de bolsos vazios. No outro dia pulou da cama bem cedo, meteu-se num banho gelado, (raiva do corpo?) e saiu dele tiritando de frio e já arrependido. E enquanto mudava a roupa pensou nas coisas que podia vender. Puxou a mala debaixo da cama. Tirou do fundo dela um estojo escuro. Abriu. Contra o cetim do fundo repousava a medalha que fora do seu avô, a comenda da Ordem da Rosa. Era uma relíquia de família. Sua avó, poucos meses antes de morrer, entregara-lha com muitas recomendações. Mas na cabeça de Vasco agora uma ideia saltava, saltava... Ele olhava a condecoração do avô. Prendia-se a um feito qualquer: ele se lembrava vagamente... Os Albuquerques tinham orgulho daquela medalha.
Vasco olhava. Depôs o estojo em cima da cama e enquanto vestia a camisa e amarrava a gravata, conservou os olhos na comenda. Uma relíquia... O orgulho da família... Das mãos do imperador... As palavras da avó: ”isto foi do seu avô, o imperador mesmo botou no peito dele. Guarde, menino, e com orgulho do seu sangue!” Orgulho do seu sangue. Pois sim... com a luz cortada. A vida dura. Orgulho do sangue... Onde andava o imperador? Onde andava o Império? Que significavam aquelas palavras?
Terminou de vestir-se, enfiou o sobretudo, e o chapéu, meteu o estojo no bolso e saiu.
Correu as casas de penhor. Ofereciam-lhe pouco dinheiro pela comenda. Diziam que ”aquilo” não tinha grande procura. Talvez algum colecionador... Deram-lhe nomes de pessoas que lidavam ”com esses troços históricos”. Vasco procurou-as. E no fim do dia, irritado e deprimido, estava com oitenta mil-réis no bolso, ao passo que a comenda da Ordem da Rosa, que em tempos passados enfeitara o dólmã do Cel. Pádua Cardoso, se achava na gaveta dum velhote amarelo e reumático que colecionava autógrafos, moedas, medalhas e outros objetos raros.
Vasco foi à Cia. de Energia Elétrica e pagou a conta.
Lembrou-se da avó, do avô... Sentiu uma pontinha de remorso.
Ficou a caminhar ao léu até o anoitecer. Quando as luzes da cidade se acenderam, ele se entregou a reflexões melancólicas. Tinha sido um dia glorioso - pensou com amargura. Quanta coisa acontecera no mundo naquelas vinte e quatro horas! Alguém atravessara o oceano no bojo dum avião, em voo solitário. (Talvez uma mulher.) Uma expedição qualquer enfrentava os rigores e perigos do Pólo Norte. Muitos sábios obscuros permaneceram fechados no seu laboratório, procurando descobrir um soro qualquer para combater uma moléstia até então sem cura. Alguém terminara o último capítulo dum livro maravilhoso que havia de viver por muitos séculos. Muita gente no mundo passara as horas daquele dia a fazer coisas belas ou úteis, audaciosas ou obscuras - mas grandes, sim, grandes! E ele - que é que ia dizer de seu dia? Simplesmente se estafara para arranjar quarenta mil e seiscentos para pagar uma conta . . .
Vasco caminhava a fazer estas considerações quando, a certa altura, viu que um cachorro o seguia. Era um viralata branco com malhas pretas. Tinha um toco de rabo que sacudia no ar festivamente. Vasco parou. O animal também. Vasco retomou a marcha. O cachorro, atrás. Vasco estralou os dedos. O vira-lata se assanhou, ganiu, roçou o pescoço na perna do rapaz, em sinal de amizade.
Vasco entrou em casa. O cachorro seguiu-o. Subiram juntos a escada. Clarissa veio abrir a porta.
- Paguei a luz - disse Vasco. - E fiz uma conquista. Apresento-lhe o meu novo amigo.
Assobiou. Estralou os dedos:
- Entre, cavalheiro.
O cachorro entrou, sacudindo o toco de rabo. D. Clemência e Clarissa se entreolharam sombriamente.
Aquela segunda quinzena de julho foi de dias claros e transparentes de frio seco. Noel, passado o alvoroço dos primeiros dias de paternidade, continuava feliz, mas duma maneira mais serena e repousada. Encorajado por Fernanda resolveu terminar o romance. Quando voltava do jornal às três horas, tomava um banho morno, vestia um pijama de lã e ia bater na sua portátil.
Relendo os capítulos escritos, tornou a encontrar João Ventura, o seu herói sem brilho, um pobre-diabo sem dinheiro nem emprego. Continuava ele a vagabundear pelas ruas à procura de trabalho. Via pela frente um mundo hostil e egoísta. E quando tornava à casa encontrava lá um antigo namorado da mulher que ia visitá-la todas as noites na sua ausência. João Ventura sabia que aquele homem tinha recursos. Sabia que ele lhe cobiçava a esposa. Queria reagir mas não tinha coragem. (Noel transmitia a João Ventura toda a sua timidez, todo o seu horror à violência.) Por isso João Ventura sofria.
Um dia Noel ergueu-se da máquina, desolado. Encontrava-se tão desorientado quanto o seu herói. Estavam ambos sem rumo, ambos com medo da vida. Fernanda interveio:
- Que foi que houve, rapazinho?
Noel mostrou-lhe o cesto cheio de folhas de papel amarrotadas.
- Não posso ir pra adiante...
- Onde estás?
- João Ventura encontrou aquele sujeito em casa. Foi dormir contrariado. Amanheceu outro dia e eu não sei o que é que vou fazer...
Fernanda pensou. O romance de João Ventura era, em suma, a história de João Benévolo, seu antigo vizinho, um pobre-diabo cuja história infeliz ela mais ou menos conhecia. Ao mudar-se da Travessa das Acácias, perdera-o de vista. Sabia que João Benévolo lutara com a falta de emprego, tinha um filho doentio e uma mulher sem grande serventia. E o próprio homem que os visitava todas as noites existira na realidade.
- Olhe - disse ela com ar de pessoa velha, cheia de experiência. - Ponha isto: João Ventura volta à casa do ex-patrão O ex-patrão se chama Negrão Garcia, recebe João Ventura muito bem, promete tudo e não lhe dá nada. O nosso herói vai embora satisfeito e iludido.
Noel encolheu os ombros:
- Sim, mas... e depois?
- Depois, a luta. A vida piorando de hora em hora.
- Mas, Fernanda, com uma história assim o leitor vai acabar bocejando...
Noel queria botar lentejoulas na narrativa, descrever paisagens requintadas, atribuir a João Ventura ideias e impressões de artista, fazê-lo pensar em termos de poesia. Fernanda contrariava-o. João Benévolo ou, melhor, João Ventura era um pobre-diabo sem imaginação. Seus problemas eram elementares: comer, dormir, vestir...
Fernanda empurrou o marido mansamente para a máquina.
- Vamos, não entregue os pontos. Ninguém bocejará se você fizer uma história humana. Deixe de literatura. Faça um romance moderno. Sabe qual é a diferença entre o romance de hoje e o romance de ontem? É que no romance de ontem o sol era astro-rei; no romance de hoje sol é sol mesmo. Ninguém morre de fome recitando Shakespeare. Ninguém pede emprego em versos rimados...
Noel passou a mão pela cabeça. Estava cansado como João Ventura. A história era opaca. A casa do homem, pobre e despida. Os diálogos que ele entretinha com a mulher (Fernanda os ditava, sugeria, impunha) eram banais: as contas, o tempo, a doença do filho. No fim, o romance seria mais de Fernanda que dele. De que servia ser autor naquelas condições? Por que não permanecer fiel às suas tendências? Por que não ficar na sua concha, encouraçado contra as investidas do mundo?
Num outro dia surgiu problema mais grave. Anabela estava presente à conversa com os seus grandes olhos negros fitos na mãe em cujos braços se achava.
- Agora vem o difícil - disse Noel. - A mulher de João Benévolo engana ou não engana ele?
Fernanda pensou um instante. Não sabia do que se passara na realidade. Mas disse, resoluta:
- Não engana.
Vasco entrou, encontrou-os ainda a discutir e foi posto ao corrente do assunto. Meteu o bedelho:
- Se fosse eu, pra dar um tom sensacional à coisa, fazia assim: João Ventura descobre a mulher nos braços do outro. Dá uma coisa nele... Puxa uma faca e estripa o amante. Depois corre pró filho e degola ele. Depois faz a mulher beber o sangue do filho misturado com o do amante. Em seguida degola ela e depois se suicida. Pronto! Não é mesmo um colosso?
Fernanda e Noel desatam a rir.
- Perez Escrich? Ponson du Terrail? - perguntou ela. - Mas que é isso, vizinho?
Vasco estirou os braços, pedindo Anabela. Deram-lhe.
- Não é nada. Acabei de ler um escritor comportado. No romance dele não acontece nada. O personagem pensa desde que começa o livro até a última página. Ninguém se movimenta. Todo o mundo sentado. Todo o mundo feliz. Parece que ninguém tem sangue. Não se ama no livro, não se odeia, não se faz nada. Devem ter uma cabeça do tamanho dum bonde, aquelas personagens. Pensam, pensam, pensam ... Li o livro até o fim, só de raiva. Se eu fosse você, Noel, aceitava a minha sugestão. Sangue! Drama! E a Anabela como vai? Não conhece o padrinho? Quantos quilos, Fernanda? Mate a sua gente, Noel. Tenha coragem.
- Eu sei que você está brincando - interveio Fernanda. - Mas a coisa vai se passar como na vida... Ela não cede. Apoia o marido até o fim. Um dia surge um emprego. O romance deve ser um hino... hino não, é um termo muito convencional, deve ser uma exaltação de coragem, do espírito de camaradagem. Deve dar uma esperança de dias melhores para os que sofrem e lutam... E deve também ser um libelo...
- Libelo? - repetiu Vasco. - Cruzes, que palavra!
- ... aos que por egoísmo, descuido, ganância ou qualquer outra razão não compreendem que todos têm o direito de viver decentemente ...
Calou-se. Pediu a filha. Vasco entregou-lhe Anabela, dizendo:
- A oradora foi vivamente cumprimentada.
Noel sacudia a cabeça. Achava-se num beco sem saída. Não tinha fé suficiente para fazer um livro de esperança. No fim sairia uma coisa insossa, sem graça, postiça. E, quebrando um curto silêncio, confessou:
- Eu queria fazer um livro, não da vida como ela é, mas como eu queria que ela fosse. Um livro para a gente pegar e ler quando quisesse esquecer a vida real... Eu entendo a arte como sendo uma errata da vida. À página tal, onde se lê isto, leia-se aquilo...
- Mas Noel, - fez Fernanda - quando se procura um livro não é para fugir à vida, mas sim para viver ainda mais, viver a vida de outras personagens, em outras terras, outros tempos. Ainda é o desejo de viver que nos leva para os romances.
Anabela começou a chorar e a conversa continuou no meio do choro.
- Ler é bom - disse Vasco. - Mas viver é melhor. E falou na sua monstruosa sede de viagens.
- Li a semana passada, numa novela de Somerset Maugham, a descrição duma dessas ilhas dos Mares do Sul... A noite dos trópicos... o mar... as palmeiras... as estrelas... aqueles verdes misteriosos... as canções dos nativos... Vocês sabem duma coisa? Tive a impressão perfeita de que já conhecia aquele lugar que o escritor pintava. Olhem, fechei os olhos e vi e ouvi tudo, o barulho do mar - palavra que não é fita! - o verde das árvores... tudo... Pensam que estou mentindo?
Noel continuava a sacudir a cabeça.
- Por que será que a paisagem real nunca corresponde à pintada ou escrita?
- Mas corresponde! - protestou Fernanda.
- Como não?! - reforçou Vasco. - E mais linda ainda. Nós é que nos convencemos do contrário. Somos uns doentes. Que é que me impede de tomar um vapor como ajudante de cozinheiro ou de carvoeiro e ir até Taiti? Nada. - Estendeu os longos braços como se quisesse abarcar o mundo. Depois deixou-os cair de repente. - Mas não. Prefiro andar aqui com esta roupa surrada, vegetando, sem trabalho... prefiro ficar aqui quando podia andar meio nu numa daquelas praias dos Mares do Sul, comendo banana, peixeecoco, pescando, cantando, dançando, amando as nativas e olhando pras estrelas... Mas qual! Sou um doente... Um covarde... Medo da opinião pública.
- Vasco se exaltava. O cabelo lhe caía sobre os olhos, que brilhavam. Medo da polícia... Medo de passar mal alguns dias... Medo! Sempre o medo!
Anabela desatou o choro e Fernanda começou a niná-
Noel dedilhava na máquina, distraído.
- No fim de contas não sei pra onde vou mandar o meu herói...
- Uma ideia! Faça João Ventura meter as patas na vida e ir embora...
- Isso é inverossímil! - afirmou Fernanda.
- A vida às vezes é inverossimil - replicou Vasco. E mesmo João Ventura podia ser uma exceção.
- Não se pode fazer um romance com exceções. Vasco também começou a bater nas teclas da máquina.
- Mas eu acho que só a exceção é que merece ir pró romance.
- Ficaria um livro falso.
Vasco olhou firme para Fernanda:
- Mas que é que é falso e que é que não é falso? Pegue um jornal. A gente vê o diabo... Botem aqueles crimes, aquelas aberrações, aquelas loucuras num romance e todo o mundo grita: ”É absurdo”. Por que é que nas reportagens e na vida toda a gente aceita o absurdo e não diz nada?
Fernanda caminhou até a janela, sacudindo a filha nos braços.
Noel disse baixinho a Vasco:
- Nenhum de nós tem coragem. Você não segue o seu desejo de fugir, de viajar. Eu não tenho nenhuma fidelidade à minha inclinação de arte. Terá sentido toda... toda essa coisa?
Vasco encolheu os ombros e não respondeu nada. Fernanda se aproximou deles:
- bom. A mulher do João Ventura fica firme, o sujeito vai embora encabulado. João Ventura, depois duma bruta luta, depois de um milhão de humilhações consegue um emprego. E o romance termina quando a gente vê um princípio de felicidade, de dias melhores. Que tal, Vasco?
- É ... - respondeu ele, seco. E mudaram de assunto.
Agosto entrou. Mais um mês - pensou Vasco. E saiu para a rua, melancólico. Fazia um tempo feio, cinzento, úmido. Uma umidade que amolecia as criaturas, tirandolhes toda a vontade, toda a alegria, toda a esperança.
Quando voltava à noite para casa Vasco encontrava uma botija de água quente debaixo das cobertas, um copo de leite e um pedaço de bolo num prato, em cima da mesinha-de-cabeceira. O seu pijama estava sempre dobrado com muito cuidado ao lado do travesseiro. E ele via em tudo o dedo de Clarissa. Deitava-se taciturno, pensando nela com uma mistura de saudade e constrangimento. Saudade, sim. Porque, embora morassem na mesma casa, viam-se pouco. De propósito ele chegava tarde a casa para não ter de ir para mesa com Clarissa e D. Clemência. Guardavam-lhe sempre um prato. Além disso Clarissa passava toda a manhã em Canoas (devia ser horrível viajar de ônibus naquelas manhãs frias de cerração) e à tarde, quando ela ficava em casa, Vasco saía... Quando por acaso a encontrava, não achava o que dizer. Via-a triste e compreendia... Sabia que, ao contrário da mãe, ela não tinha nenhum sentimento de antipatia ou censura para com ele. E aquela expressão de pena e desejo de conforto que ele lia nos olhos da prima, lhe davam uma sensação ao mesmo tempo agradável e vexatória. Quando acontecia falarem-se, ela contava um que outro incidente da escola, da viagem. Ou então conversavam casualmente sobre o cachorro, que agora era companheiro inseparável dele. Vasco pusera-lhe um nome - ”Casanova”.
As noites de Vasco eram amargas. O sono custava a vir. Ele lia à luz duma vela. (Seria o cúmulo contribuir para que o consumo de luz aumentasse.) Relia velhos livros que lhe haviam dado no passado momentos de encantamento.
Naqueles dias frios apareciam muitos vagabundos batendo à porta. Homens sem trabalho que pediam dinheiro, roupa ou comida. Eram em sua maioria estrangeiros e tinham um ar cinzento. Quando se lhes abria a porta vinha deles um cheiro azedo de corpo sujo, misturado com bafio de cachaça. D. Clemência dava-lhes roupas velhas, um pedaço de pão, restos de comida. E não compreendia a tragédia daquelas criaturas. Achava que, se eles quisessem, não lhes faltaria ocupação. Dizia isto para Clarissa, visando Vasco indiretamente.
- Tamanhos homens! Lindos pró cabo duma enxada. Uma tarde apareceu um enorme homem louro, de olhos muito azuis e tristes. Falava um português arrevesado. Apesar das roupas velhas e sujas e da barba crescida, conservava um certo aprumo de gentleman. Disse logo que não queria roupa nem comida: preferia dinheiro. Fez uma mesura e ficou sorrindo para D. Clemência, que segurava a porta, sem saber que dizer. Vasco apareceu e deu ao homem uma moeda de quatrocentos réis.
- Não vá beber... - recomendou D. Clemência. O homem inclinou-se para ela, sorridente.
Os olhos azuis ficaram olhando em branco, como se não tivessem compreendido.
- Beba - disse Vasco, nervoso. - Beba cachaça.
E quando o homem, murmurando agradecimentos, desceu a escada, o rapaz continuou:
- E por que não? Que é que um pobre-diabo como esse pode fazer mais senão beber pra esquecer essa humilhação de andar pedindo esmola? Que é que ele vai fazer com o níquel que dei? Comprar um palácio? Uma fatiota? Ele que beba até cair. Pelo menos ficará quente e feliz por algumas horas.
- Clemência olhava para o rapaz, alarmada. Era o sangue do pai - pensava ela - era o sangue do pai que falava por ele! Aquele menino ainda acabaria mal.
- Casanova! - gritou Vasco.
O vira-lata apareceu, sacudindo o rabo. Desceram as escadas e caíram na rua.
E naquela tarde cinzenta Vasco andou à toa pela cidade. Leu num jornal que mais um homem se suicidara atirando-se do alto do viaduto. A vida era mesmo uma droga, como dizia o Dr. Seixas. Valia a pena? Valia - afirmava Fernanda. E pensando nela, Vasco se envergonhava de seu desânimo.
O sol não apareceu durante cinco dias. E o minuano soprava, gelado. E ele se sentia envelhecido.
Casanova seguia-o, sempre festivo. Parecia não ter problemas. De quando em quando parava, erguia a perninha contra uma parede, desenhava nela uma silhueta indecifrável e depois saía muito sereno atrás do amigo.
Uma noite muito fria, Vasco encontrou deitado no banco duma praça um negrinho esfarrapado que tremia de frio. Casanova parou perto dele e começou a lamber-lhe a mão e a ganir. Vasco aproximou-se.
- Por que é que não vai pra casa?
Os olhos do negro piscaram. E uma voz soturna de urucungo, rouca e envelhecida, saiu-lhe da boca arroxeada:
- Não tenho casa.
- Está com frio? - perguntou Vasco, percebendo em seguida a inutilidade da pergunta.
- To - foi a resposta simples.
- Vamos embora.
O negrinho continuava deitado.
- Vamos pra minha casa. Senão o guarda vem e leva você. Vamos! Lá você não sente frio.
O preto levantou-se, com certa relutância e começou a caminhar encolhido ao lado de Vasco. Casanova sacudia o rabo.
- Quantos anos tem?
- Não sei.
- Onde é que trabalha?
- As vez vendo jornar.
Vasco levou o negro para seu quarto. Entraram no escuro, de mãos dadas, cautelosos para não acordar as mulheres. Vasco estendeu no chão o seu roupão de banho e disse ao preto:
- Deite ai.
Deu-lhe um dos cobertores.
Deitou-se também soprando a vela. Casanova saltou para a sua cama e se enrodilhou a seu lado. Em breve os três dormiam.
No dia seguinte ao dar com o novo hóspede, D. Clemência ficou alarmada. Mas depois teve pena de mandá-lo embora, e consentiu em que ele ficasse. Podia fazer fogo, dar recados, varrer o pátio.
O preto ficou. Chamava-se Delicardense. Clarissa riu ao ouvir o nome.
Delicardense aprendeu a acender o fogo pela manhã. Trazia e levava as marmitas com a comida da pensão.
- Eufrasina, aparecendo um dia de visita, olhou para o moleque e diagnosticou:
- Isso é negro alarife. Está se vendo... Cabeça pontuda, perna fina, dente sempre arreganhado...
Gabava-se de seu olho clínico. Nunca se enganava.
- Clemência, tu te cuida com esse negro. Qualquer dia ele te faz uma boa...
Delicardense em breve ficou popular. Quando Don Pablo o via no pátio rachando lenha ou lavando uma bacia, gritava:
- Negus Negusti. Hijo dei diablo. Que haces? Que haces? Que haces?
Delicardense arreganhava a dentuça e ficava rindo para aquele homem tão engraçado que só falava casteiano.
Anabela também se tomava de amores pelo preto. Quando o via, pregava nele os seus grandes olhos escuros e sérios.
E durante algum tempo Delicardense foi uma novidade na vizinhança. Depois, entrou para a categoria dos lugàres-comuns.
O inverno continuava feio e duro. D. Clemência teve outro ataque de fígado. O Dr. Seixas andava ausente, tinha ido ver uma tia que morava no Lajeado e estava passando mal. Tiveram de chamar outro médico, que cobrou vinte mil-réis pela visita. Veio outras vezes. Tinha um grande Buick. No fim apresentou uma conta de 80$. D. Clemência pagou com dor de coração. E, muito antes do fim do mês, eles já não tinham mais nem um vintém em casa.
Uma tarde apareceu um mulato com cara de tuberculoso pedindo comida. D. Clemência deu-lhe as sobras do almoço.
- Meu Deus, não pára de aparecer gente pedindo coisas ...
No dia seguinte bateram à porta. Vasco foi atender. Um homem alto, magro, de pele tostada achava-se ali no patamar sombrio com um baú de folha a seus pés. Apertava na mão direita o chapéu preto de feltro. Barba de dois dias. Mas os olhos... aqueles olhos eram estranhos, lembravam alguém... Vasco ficou a olhar para o desconhecido, vagamente inquieto.
- Dinheiro não tem - disse D. Clemência. - Mas espere.
Foi buscar um pão.
O homem sorria. Vasco continuava a mirá-lo, sem dizer palavra. Onde tinha visto aquela cara? Num sonho? Numa gravura? Noutra vida? Ou nunca?
- É o Vasco?
Ele sacudiu a cabeça, afirmativamente.
- No me conhece? - O homem tinha uma voz agradável, cantante e sonora. E sorria mostrando os dentes escuros e estragados. - Io só o Álvaro.
- O Álvaro? - repetiu o rapaz, como se ouvisse o nome pela primeira vez. - tuo papá...
Tonto, Vasco lutava por compreender. Sentiu um amolecimento no corpo. Uma sensação de pesadelo...
O homem avançou de braços estendidos.
No meio da sala, segurando o pão, D. Clemência olhava sem entender.
Vasco teve a impressão de que abraçava um fantasma. Mas um fantasma que cheirava a suor humano e sarro de cachimbo. Um fantasma de braços rijos que o enlaçaram demoradamente. Um fantasma que lhe beijou as faces e que depois, segurando-lhe fortemente os braços, afastou-o um pouco de si e ficou a olhar firme dentro de seus olhos.
- Porca miséria, como é belo! - exclamou o homem. Soltou Vasco bruscamente, num repelão. Apertou as
mãos de D. Clemência e depois, com todo o desembaraço, puxou para dentro o baú de folha que estava no corredor.
- Me aiuda, Vasco - pediu ele. - Pega aqui. Donde é teu quarto, eh?
Sem palavra o rapaz inclinou-se e pegou numa das alças do baú. Caminharam assim devagar para o quarto. E, absurdamente, vieram-lhe à memória as palavras duma canção de piratas que ele lera num romance.
Quinze homens sobre a mala do defunto ... Yo-ho-ho e uma garrafa de rum!
Deixaram a mala ao lado da cama.
Vasco lutava com seus pensamentos. Continuava a impressão de estar dentro dum sonho aflitivo. Seu coração batia descompassado. Um peso estranho oprimia-lhe o peito. Teu pai! Teu pai! - repetia-lhe uma voz interior. E essa voz era um cochicho de João de Deus, uma soma de todas aquelas vozes que no passado lhe lançavam em rosto com desprezo estas mesmas palavras: Teu pai!
Parado ao pé da cama, Vasco olhava, sem um gesto, sem uma palavra.
Álvaro acendeu o cachimbo, tirou uma baforada. Seus olhos castanhos sonharam por trás da fumaça. Depois estendeu-se na cama, cruzou as mãos contra a nuca e ficou a chupar o cachimbo.
Vasco continuava mudo. Aquilo era incrível, inesperado, arrasador. Donde tinha saído aquele homem? Como havia descoberto a sua casa?
Segurou a guarda da cama. O frio da barra de ferro foi um chamado à realidade.
Álvaro tirou o cachimbo da boca. Sentou-se na cama.
- Vi o túmulo da tua mama... Dio, come é triste a vida! - Sacudiu a cabeça, com pena. - Pobre bambina! Espalhei rosa in torno o retrato dela. Come era bela, Vasco, te dico que era bela e buona.
Lágrimas lhe vieram aos olhos. O rapaz ficou vermelho e teve vontade de se sumir.
- Então esteve em Jacarecanga? - perguntou, fazendo um esforço.
- Si... - Olhou com ar vago através da janela. Quanto tempo, eh? Tu era cosi... Dois anos. Tuo pai é una béstia... Porca miséria, morreu tanta gente na guerra e io esto aqui...
Num pincho pôs-se de pé, agarrou os ombros do filho com as mãos tostadas e lhe perguntou, sem tirar o cachimbo da boca:
- Vasco, fala franco. Tu ódia o teu babo, no? Fala franco, filho.
Vasco sacudiu a cabeça como um autómato. Não. Ele não odiava o pai por tê-los abandonado, a ele e à mãe, sozinhos numa cidade estranha. Não o odiava por ter fugido. Tudo aquilo estava tão longe, tão esquecido... Mas estava começando a odiá-lo por ter aparecido, por tentar matar assim aquela imagem ideal que ele sempre associava ao nome Álvaro, Sim, porque o pai para ele sempre fora uma figura de lenda, nem viva nem morta: simplesmente fantástica. Escutava as histórias que lhe contavam dele com a mesma delícia, o mesmo fascínio com que ouvia as proezas de Pedro Malazarte. E agora o pai lhe aparecia fumando um cachimbo horrível, metido em roupas sujas, fazendo melodrama, matando, estraçalhando brutalmente o Álvaro ideal, o pintor boémio e alegre, dono do mundo, despreocupado e feliz...
Álvaro deixou cair as mãos. Sentou-se na cama e tirou os sapatos empoeirados e ressequidos. Soltou um suspiro de alívio.
- Credo que caminhei dua o trê légua, procurando a tua casa. No repara, filho. Tuo babo está doente. Tem uma gafiaspirina? Fá a gentileza.
Vasco lhe trouxe um comprimido, que Álvaro mastigou e engoliu.
- No precisa água. Grazie. Deixa o teu babo dormire. Depois eu te conto tudo. Vai. Fecha janela. Próprio cosi. Até logo, filho. Dio te guarde.
Estirou-se na cama. Vasco caminhou para fora do quarto. Como se estivesse a mover-se dentro do mais doido dos sonhos.
Álvaro acordou, pegou o chapéu e saiu sem dizer nada a ninguém.
A noite veio e ele não apareceu. Vasco e D. Clemência estavam ainda confusos. Clarissa, que ao voltar do colégio fora informada de tudo, se achava entre apreensiva e curiosa.
- Esse homem agora vai ficar morando com a gente?
- perguntou D. Clemência.
Vasco quedou-se num silêncio de chumbo, esmagado, sem coragem nem para pensar. Por cima de todos os males lhes acontecia agora aquilo... No entanto o homem era seu pai. Não podia deixá-lo na rua, sem abrigo nem comida. Precisavam achar uma solução. Se ao menos ele estivesse empregado. Podia pagar-lhe pensão... levá-lo para outro lugar.
- A gente não sabe de nada - dizia Clarissa, procurando animá-los. - Quem sabe se ele não vai embora? Ou se arranjou algum emprego?
Vasco passava a mão pela cabeça. Estava triste, deprimido, como se tivessem acabado de lhe dizer: Teu pai morreu. Sim, agora Álvaro tinha morrido de verdade.
Clarissa olhava para o primo e compreendia o sofrimento dele. Tinha vontade de acariciar-lhe a cabeça, beijar-lhe os cabelos, dizer-lhe palavras de consolo. Mas não podia. A mãe não consentiria. Todos haviam de criticar. .. E no entanto, achava ela, o absurdo era ficar assim de braços caídos enquanto o primo sofria e se debatia, tonto, sem um carinho. ..
Desceu e foi procurar Fernanda. Contou-lhe tudo. Subiram juntas.
Fernanda foi direito a Vasco.
- Então, o velho apareceu? Parabéns.
- Voltou... - murmurou o rapaz.
- Mas que é isso? Você parece que não gostou... Vasco sentou-se pesadamente numa cadeira e desabafou.
- Estou bestificado. Não sei... A gente sempre imagina outra coisa... Chegou aí esse homem, assim de repente... Foi um choque, uma coisa estúpida... Eu não sabia se ele estava vivo ou morto. - Passou a mão pela cabeça.
- Chegou na pior ocasião. Estou desempregado, sem níquel.
Fernanda deu-lhe uma palmada no ombro.
- Seu bobalhão! Onde está a sua coragem? Onde está aquele seu falado espírito de camaradagem? Vocês são mesmo uns fingidos. Vivem bazofiando, despejando teorias, mas quando a vida arreganha os dentes vocês afrouxam. .. Você devia estar contente! O seu pai chegou. No fim de contas é um ser humano, tem o seu sangue, pode ser um amigo. Então não compreende isso? Amigo, essa coisa rara e maravilhosa...
Clarissa não despregava os olhos de Fernanda. Bebialhe as palavras. Tinha vontade de beijá-la. E à medida que a outra ia falando, ela sentia que eram exatamente aquelas as palavras que ela queria dizer.
Vasco se ergueu, foi até a janela, olhou o céu cinzento por cima dos telhados escuros. Sempre o inverno!
Fernanda perseguiu-o ainda, encarniçada:
- Crie vergonha! Reparta a sua cama com o velho. Dê-lhe um pouco de sua comida. Se precisar alguma coisa, grite pra baixo. Nós ajudamos. Não somos amigos? Não estamos no mundo para nos escorar uns aos outros como burros que sobem uma lomba puxando uma carga pesada?
Fernanda e Clarissa viram como ficavam vermelhas as orelhas de Vasco. Ele continuava de costas, imóvel e silencioso.
Fernanda voltou-se para D. Clemência:
- Tenha paciência, vizinha. Aguente o homem. E tenha a certeza de que qualquer dia ele e o Vasco arranjam um bom emprego. É só ter paciência. Quer me fazer esse favor?
- Clemência estava muda, obstinadamente muda.
- Faça por mim esse favor. Deixe o pai de Vasco ficar. A mãe de Clarissa olhou Fernanda bem nos olhos e disse:
- Tu não conheces a história, Fernanda. Por causa desse homem a mãe do Vasco se matou...
Vasco sentiu como que uma punhalada nas costas. Teve vontade de saltar pela janela.
- . . . ele fez a desgraça da família - continuou D. Clemência. - Abandonou o filho. Agora o filho não tem nenhuma obrigação de ajudar ele.
Fernanda, que já conhecia bem a vida da família de Clarissa, jogou a última cartada:
- bom, está certo. Mas a senhora nesse tempo não fazia parte da família. Faz de conta que não sabe de nada. Lembre-se que o pobre homem não pode ficar na rua com esse frio horrível. Eu me responsabilizo por tudo que acontecer ...
Vasco escutava, sofrendo. E aos poucos tudo se lhe fazia claro... As palavras de Fernanda tinham atingido o alvo. E ele sangrava... Onde estavam então os seus protestos de solidariedade humana? Onde? Recolhera um cachorro sem dono, um negro abandonado. Por que recebia o pai com aquela relutância quase hostil? Por que ele não correspondia ao seu sonho? Besteira. Noel poderia pensar assim. Mas ele, não. Fernanda dizia as palavras que ele, Vasco, devia dizer, defendia um homem que lhe cabia defender. Não sentira ele sempre em si fragmentos do grande sonho do pai? Não se julgava com mais sangue dos Brunos que dos Albuquerques? Então? . . .
Voltou-se de repente, caminhou para D. Clemência e disse:
- Olhe, se a senhora não quiser que ele fique, eu não fico também. Vamos os dois embora. Não havemos de morrer de fome.
Mal pronunciou estas palavras, viu que tinha cometido outra estupidez. Excedera-se no outro extremo. Agora havia a mãe de Clarissa; e Clarissa também.
Mas era tarde para recuar. Saiu, caminhando duro, rumo do quarto. E Clarissa, com o coração acelerado de medo, viu de novo no primo o Gato-do-Mato, o gato orgulhoso que andava sozinho por todos os caminhos da terra, em casa, sem lei, sem dono, sem amigos, sem nada...
Fernanda interveio.
- Vamos, D. Clemência. Depende da senhora. Não estrague a coisa que ia tão bem. Que diabo! É preciso a gente passar um pouco de trabalho para conseguir outro pouco de felicidade.
- Clemência voltou o rosto e disse:
- Pois está bem. Ele que fique.
Foi esconder sua mágoa no quarto. Fernanda alcançou Vasco no corredor.
- Alto lá, capitão! A dona da casa diz que seu pai pode ficar...
Vasco já nem sabia mais que pensar. Suas ideias eram um tumulto. Estava exacerbado, desmoralizado por aqueles dias de vagabundagem, falta de dinheiro, e humilhações. Não queria saber de mais nada. Precisava de ar e espaço. Queria caminhar, caminhar e esquecer. Se ficasse, era capaz de fazer outra asneira.
- Está bem, está bem... - disse, estabanadamente, sacudindo a cabeça. - Até logo.
Bateu a porta. Ouviram-se seus passos rápidos e surdos, descendo a escada.
Vermelha e trêmula, com as mãos apertadas, Clarissa olhava para Fernanda com ar súplice.
- Será que ele volta? - perguntou com voz engasgada pela comoção.
Fernanda tranquilizou-a.
- Volta. Não tenha cuidado. Volta. - Sorriu. - Mas não se descubra tanto assim, senão toda a vizinhança vai perceber que você está apaixonada pelo seu primo.
Clarissa sentiu um desfalecimento, gaguejou uma desculpa. Fernanda abraçou-a:
- Bobinha. Pensa que eu não vejo, não sinto, não compreendo? Mas não se assuste. Não conto a ninguém. Que diabo! Amar não é nenhuma vergonha. Depois, um rapaz tão bom... Vamos, pra que esse choro? Até parece aqueles dramalhÕes que as meninas dos colégios de freiras representam . ..
Como única resposta Clarissa pegou a cabeça de Fernanda e beijou-lhe muitas vezes o rosto.
”Agosto, mês de desgosto”, dizia sempre D. Eudóxia. Mas aquele agosto corria tranquilo. Anabela crescia e engordava. Noel fazia progressos no seu romance. Fernanda se repartia entre os seus quatro filhos e os vizinhos, que a solicitavam a cada instante. Um dia D. Magnólia chamou-a às pressas. Orozimbo estava gritando de dor e dizendo que ia morrer. Lu tinha ido ao armazém telefonar para o Dr. Seixas. Fernanda correu à casa vizinha. Encontrou o pobre homem com o corpo sacudido por um choro convulsivo. Procurou consolá-lo:
- Que é isso, seu Zimbo? Não chore assim. O doutor já vem.
- Eu vou morrer... Eu não quero morrer, não quero!
Parecia uma criança. Já não tinha nem sequer um pingo do antigo orgulho, da velha arrogância. Estava derrotado.
- Mas quem é que disse que o senhor vai morrer? Fique quieto.
As lágrimas escorriam pelo rosto macilento e descarnado. E o corpo enorme e ossudo se sacudia todo em cima da cadeira.
O Dr. Seixas chegou e aplicou-lhe uma injeção de morfina. Dentro de alguns minutos Orozimbo serenou. Por fim dormiu. D. Magnólia, de pé no meio do quarto, rezava, de mãos apertadas. Lu olhava com olhos selvagens para o pai: olhos em que havia mais susto que pena.
O Dr. Seixas sacudiu a cabeça e murmurou para Fernanda.
- Esse está liquidado. Não tem jeito. Meu Deus, quando é que esses idiotas vão reconhecer a necessidade da eutanásia? - Arrastou Fernanda para o corredor. - De que serve viver desse jeito? - perguntou, procurando no bolso fósforos para acender o toco de cigarro. - Não serve de nada. Está dando despesa pra família... Me dá o fogo. Ah! Desculpe .. . Mas não é mesmo? Está se acabando aos poucos . ..
Foi esse o único incidente desagradável daquela primeira quinzena de agosto.
Uma manhã, antes de sair para a escola, Fernanda ouviu Álvaro cantarolar lá em cima uma tarantela. Depois viu-o sair para o pátio com Delicardense e Casanova. Ficaram os três a brincar. Álvaro apanhou um graveto e jogouo longe, gritando para o cachorro:
- Andiamo, Giovanni Jacopo Casanova! Andiamo! O cachorro olhou para o homem e ficou firme. Delicardense soltava risadas sonoras.
Fernanda, da janela, cumprimentou o pintor. Este, em resposta, rasgou um cumprimento largo, gritando ao mesmo tempo: - bom dia, bela!
Cantava as palavras, pronunciava-as com uma certa sensualidade, destacando bem as sílabas, lambendo-as, beijando-as.
Álvaro lhe dissera um dia na escada:
- A sinhora é mesmo um tipo de napolitana. vou fazer o seu retrato colorido. Quando o Vasco me conseguir as tintas ...
Fernanda via com prazer que Álvaro e Vasco já estavam em termos de boa camaradagem, saiam juntos para a rua, acompanhados de Casanova, conversavam, riam e se contavam histórias. Às vezes desciam para a casa de baixo e ficavam a atordoar Noel, com perguntas maliciosas sobre o seu livro.
Noel já sentia um pouco mais de simpatia pelo tema do romance. Já queria bem ao seu João Ventura e experimentava um certo prazer ”divino” em dispor da vida de sua criatura. Era-lhe agradável a ideia de que, se quisesse, podia esmagar o seu herói dum momento para outro, do mesmo modo que lhe podia dar um Rolls-Royce, ou fazê-lo rei dum reino impossível. Mas quando se lembrava de que o livro ia ser publicado, lido e julgado por outros, que exigiriam dele verossimilhança - então Noel se via despojado de suas qualidades demiúrgicas, sofria a angústia da limitação, desconfiava do romance e acabava procurando o amparo de Fernanda.
Estava já a história nos últimos capítulos. A mulher de João Ventura resistira às investidas do admirador, que lhe prometia uma vida melhor, mais conforto e felicidade. Mantivera-se fiel ao marido. E João Ventura, depois de uma série de peripécias, vislumbrava a primeira possibilidade de conseguir um emprego.
Mas que emprego?
Ficaram vários minutos a procurar trabalho para o herói. D. Eudóxia olhava da filha para o genro com olhos cheios de pena: aqueles dois estavam mas eram doidos, doidos varridos. Onde se viu estarem falando de figuras de romance como se se tratasse de gente de verdade?
Por aqueles dias Honorato Madeira fez uma visita furtiva à casa do filho, para conhecer a neta. Chegou muito contrafeito, murmurando desculpas. Pôs Anabela nos braços. E ficou, muito feliz, a brincar com a criança, a dizer-lhe nomes carinhosos e a fazer perguntas à mãe sobre peso, saúde, regime, horas de sono...
Depois, dentro dum silêncio que se fizera de repente, balbuciou, encabulado:
- A Violeta mandou lembranças pra todos.
Noel e Fernanda sacudiram afirmativamente a cabeça; sentindo ambos o tom falso daquelas palavras. Ao sair, Honorato tirou do bolso um envelope e colocou-o no berço de Anabela.
- Um presente do vovô - disse.
Abraçou Fernanda. Abraçou Noel. D. Eudóxia estendeu-lhe a mão mole, frouxa e mirou o homem com hostilidade. Aquele sujeito era o pai de Noel, tinha dinheiro... Por que não ajudava o rapaz? Mesmo sem esperar que ele lhe pedisse... Que custava?
Depois que Honorato Madeira foi embora, Fernanda abriu o envelope. Continha duas notas de 500$000.
Revirou as notas nos dedos, sorriu e disse:
- bom. Vamos guardar. O dinheiro é da Anabela. Não podemos gastar.
E não se falou mais naquilo. D. Eudóxia, porém, passou o resto do dia, triste e sombria.
E o resto daquele agosto correu tranquilo até a hora em que apareceu à porta um homem magro, encurvado e de óculos, perguntando:
- Aqui é que mora o Pedrinho Moreira?
- É sim senhor - respondeu D. Eudóxia.
O desconhecido carregou as palavras de solenidade.
- Desejo falar com o pai dele. Silêncio curto.
- Ele não tem pai. A mãe sou eu. Fernanda apareceu.
- Mas mande o cavalheiro entrar. O homem entrou.
- O senhor faça o favor de sentar.
O homem sentou-se. Ficou muito teso na cadeira, segurando o chapéu. Estava de colarinho duro de ponta virada e calçava botinas de elástico.
Fernanda sentou-se também.
- O senhor queria falar com o Pedrinho?
- Não. Eu... eu queria falar com o pai dele... Mas... mas essa senhora me disse... que ele não tem pai.
- É verdade. Eu sou irmã. Exerço as funções de pai...
- Sorriu. O homem sorriu em resposta, mas amarelo. Do que se trata?
Houve uma pausa embaraçosa. O visitante remexeu-se na cadeira. Esticou o pescoço, como se o colarinho o estivesse incomodando. Amassou o chapéu. E sem que ninguém mais pronunciasse uma palavra foi ficando vermelho...
É o alfaiate - pensou D. Eudóxia. - Garanto que o Pedrinho não pagou a fatiota.
- Eu vim falar uma coisa muito séria, muito séria... Pois é. Pensei que ele tinha pai. Mas não tem. Fica difícil. Pois é.
Fernanda encorajou-o.
- Não. Pode falar com franqueza . . . Outro silêncio.
- É ... é que eu sou o pai da Ernestides.
A fisionomia de Fernanda não se alterou. Por delicadeza ela sorriu, fingindo que compreendia.
- A namorada do Sr. Pedro...
Fernanda começava a compreender. O homenzinho queria casar a filha. Vinha perguntar quando era que o Sr. Pedro se dispunha a pedir a moça em casamento, porque o namoro estava se prolongando muito, os vizinhos já andavam falando. Não podia ser outra coisa... Só que... Mas não, não era possível.
Na cabeça de D. Eudóxia um pensamento negro começava a tomar forma.
O homem procurava uma saída. Estava desnorteado.
- Que foi que aconteceu? - perguntou Fernanda. Então ele começou a falar, apressado:
- Aconteceu um desastre. Pois é. Um desastre. O Pedrinho ... o Pedrinho abusou da minha filha. - E de repente, já que tinha dito tudo, criou coragem. E com sua voz fina e débil procurava assumir ares másculos. - Isso não pode ficar assim. - Sacudia no ar o indicador enristado.
- Venho exigir uma reparação. - Tinha as suas veleidadês literárias; escrevia cartas ao ”Correio do Povo”, para a seção ”Queixas do Público”. - Um pai de família abre as portas de seu lar a um moço, recebe-o com todo o carinho. .. pois é... e esse moço abusa da confiança... pois é...
- Eudóxia sofria. Fernanda estava atordoada. Já nenhuma delas ouvia mais o discurso do homenzinho.
A moça dominou a comoção e disse:
- bom. Não se exalte. Se Pedrinho abusou da sua filha, ele casa...
- Fernanda! - gritou D. Eudóxia.
- Casa, direitinho. Mas não vamos nos precipitar.
- Pois é. Mas se a senhora desconfia... - Botou a mão no peito. - O nosso médico deu um atestado. Conhece o Dr. Marques Bretãs? Pois é. Se a senhora desconfia...
- Não desconfio de nada. Vamos ver. Quando o Pedrinho voltar...
O homem ergueu-se um pouquinho na cadeira para dizer:
- Dou-lhe a minha palavra.
- Eudóxia não se conteve e com voz áspera avisou:
- O Pedrinho tem só dezessete anos... Ganha só trezentos mil-réis por mês...
O homem caiu num silêncio de depressão. Depois:
- O mal está feito, minha senhora. Sou um homem pobre mas honrado... Podem pedir informações minhas.
Contou que se chamava Modesto Braga. Era funcionário da Mesa de Rendas, tinha quatro filhas. Ernestides era a mais moça. Disse que tinha gostado de Pedrinho e facilitado a entrada dele em sua casa. Tinha confiança no rapaz, deixava-o a sós com a menina. Nunca pensou que pudesse acontecer aquilo...
E, enquanto falava, Modesto Braga, ajustava os óculos, dizia ”pois é” nas pausas e amassava o chapéu. Fernanda só desejava que aquele homenzinho de fala fina fosse embora para que ela pudesse respirar mais livre, tomar um copo dágua, coordenar ideias, desabafar... Por sua vez D. Eudóxia seguia mentalmente o desenvolvimento completo duma tragédia. E se fazia perguntas: Que ia ser do filho casado naquela idade, naquela situação? Onde iam morar? E se aparecessem filhos? Estava tudo perdido. Pedrinho, desgraçado para o resto da vida. Por fim o homem se levantou:
- Pois é. Conto com a senhora. O mal deve ser reparado, a pobrezinha da Ernestides está muito sentida. Nós nunca pensamos. Eu disse em casa: Minha velha, decerto a gente dele é de bem e tudo se arruma.
Despediu-se e saiu.
Fernanda, voltando-se para a mãe, viu uma tristeza de morte no rosto dela.
- bom, mamãe. Agora não precisa ficar com essa cara.
- Eudóxia sentou-se a um canto, cruzou os braços e ficou imóvel, com os olhos fixos no soalho. Fernanda estava também abatida. Procurou, porém, encorajar a mãe.
- Não há de ser nada. Se é verdade, o Pedrinho casa mesmo. Quem manda ser louco?
A voz lamurienta de D. Eudóxia:
- O menino recém está começando a vida. Como é que vai sustentar casa?
- Arranja-se. Onde comem quatro, comem cinco. Onde dormem quatro, dormem cinco. Por enquanto é questão de mais uma cama e mais um prato.
- E depois?
- Depois... ora... depois se vê...
Fernanda lembrava-se vagamente duma parábola que o Rev. Bell vivia a citar, a propósito dos homens cobiçosos que só cuidavam de guardar dinheiro: ”Considerai os lírios do campo”. Eles não se preocupavam com roupas e andavam mais bem vestidos que o Rei Salomão. Salomão pensou Fernanda - Salomão. Não paguei a última prestação dos móveis. Diabo!
De manhã bem cedo Doce deixava o calor da cama e, enquanto Amaro ficava ”dormindo mais um soninho”, ia receber o leite e o pão. Depois deixava-se estar na cozinha, acendendo o fogo para o chimarrão do funcionário aposentado:
Às oito horas levava café para Amaro, que o tomava na cama. Era um café quente, perfumado, gostoso. As fatias de pão de centeio eram grossas e tinham espessas camadas de boa manteiga. Amaro permanecia debaixo das cobertas. Sempre tivera horror ao frio.
Já agora não ia mais ver Clarissa tomar o ônibus. Entregava-se a Doce, se bem que ainda persistisse aquela velha repugnância e a impressão dolorosa de culpa, a consciência nítida da própria degradação. Oh! Mas a culpa de tudo cabia àquele inverno cruel que acovardava, que fazia fugir das ruas e procurar um aconchego.
Depois de uma semana de dias cinzentos, céu nublado, veio uma manhã clara de sol. Brilhava a geada nos telhados. O ar tinha uma pureza e uma transparência tais, que se podia dizer que aquela era a primeira manhã depois da Criação. Amaro ergueu-se da cama e imediatamente se lembrou de Keats. Pegou a sua surrada brochura e, vestindo o sobretudo por cima do pijama (um pijama novo de pelúcia, presente de Doce) sentou-se à sua mesa e começou a ler o Endymion.
A thing ofbeauty is a joy for ever; Its loveliness increases; it will never Pass into nothingness; but still will keep A bower quiet for us, and a sleep Full of sweet dreams, and health, anda quiet breathing...
Continuou a ler, mas sem compreender. Porque uma só frase lhe soava na mente, macia, cariciosamente insistente: ... a sleep full of sweet dreams um sono
cheio de sonhos doces... full of sweet dreams ...
Levantou-se. Precisava de música. Muitamúsica. Ali estava o piano que Doce alugara para ele. Ergueu-lhe a tampa: apareceu o teclado amarelado. Sentou-se na banqueta de palhinha esburacada. Aquele piano velho e fanhoso era mais uma coisa a prendê-lo à mulata. Ela procurava todos os meios para o cativar. Era horrível. Era ignóbil. Mas ali estava o piano. Os dedos de Amaro acariciaram o teclado, tirando acordes... a sleep full of sweet dreams... Então muito de mansinho ele começou a tocar uma de suas sonatas. Os sons metálicos e roucos do piano inundaram o quarto. Mas Amaro não percebeu que eles desfiguravam a sua composição. Porque ele estava ouvindo mentalmente uma música que vinha do passado. E essa música lhe trazia de volta à memória, viva, a Clarissa de quatorze anos que ele vira no pátio da pensão, descalça, brincando debaixo dos pessegueiros floridos. E era o sol daquela primavera longínqua que lhe aquecia a alma naquele instante. Amaro estava tão distraído, que nem viu Doce entrar devagarinho com uma vassoura na mão e começar a varrer o quarto com muito cuidado, para não perturbar ”o seu amore”. Ela não entendia aquelas músicas, mas uma secreta intuição lhe dizia que se tratava de coisa muito fina que só as pessoas preparadas podiam compreender. Ela varria e escutava, com ar respeitoso. Encurvado, com a gola do sobretudo erguida, Amaro tocava... Uma fita de sol lhe riscava as costas em diagonal e ia terminar no chão, debaixo da cama. Doce viu uma teia de aranha escurecendo a testa de Beethoven. Ergueu a vassoura e passou-a de mansinho, primeiro na parede e depois na cara branca. A máscara se desprendeu do prego e caiu com ruído. Amaro voltou a cabeça num sobressalto e compreendeu o que havia acontecido. Levantou-se e correu... A máscara estava partida em quatro pedaços.
- Mais! Que horrore! Me desculpe! Que é que eu fui fazere? Que burra eu sou, que burra! Ora...
Ajoelhado, pálido, Amaro juntava os cacos da máscara. Pô-los em cima da mesa, procurando recompor a fisionomia de Beethoven.
Doce aproximou-se dele, muito humilde. E com uma timidez tatibitate de criança, perguntou:
- com cola-tudo se arruma, não é?
Sorriu com sorriso de esperança. Suas bochechas, ainda com o carmim do dia anterior, brilhavam ao sol da manhã.
Pedrinho casou em família. Fernanda, Noel e os pais da moça foram os padrinhos. Os noivos chegaram a casa muito alegres e agarrados. D. Eudóxia fechou-se no quarto em sinal de protesto. A muito custo Fernanda conseguiu que ela viesse apertar a mão da nora.
Ao entardecer, no mesmo dia, Pedrinho e Ernestides, abraçados, debruçaram-se à janela que dava para o pátio. Debaixo da laranjeira, Delicardense que estava rachando lenha, parou um instante, olhou para o casal e desatou a rir, uma risada largada e safada, que lhe punha à mostra os dentes muito grandes e brancos.
- Credo, menino! Que casamento ligero! Que será que aconteceu?
E se dobrava de riso, enquanto Pedrinho e Ernestides se beijavam - a única resposta que podiam dar no momento à maroteira do preto.
O Dr. Seixas apareceu uma noite, lançou um olhar para o casal novo e rosnou:
- Mas que patifes! Que pressa foi essa? Qualquer dia ela está desovando. Mais um fedelho pra incomodar a gente. Aaah!
Quando Noel via Pedrinho e Ernestides aos beijos, sentia uma irreprimível repugnância, ficava desconcertado na presença do par e acabava fugindo. D. Eudóxia vestia um luto permanente na alma e na cara.
Fernanda fazia cálculos... Iam gastar agora mais 30$000 de comida por mês. O açúcar, o café, a manteiga e a lenha e o consumo de luz também aumentariam. Enfim ... não era nada. Não havia doença em casa.
Ernestides era barulhenta e espalhafatosa. Usava Narcisse Noir e quando ela estava numa peça, o seu perfume invadia o ar, dando uma qualidade acintosa à sua presença.
- Eudóxia entretinha amargos solilóquios, os olhos cinzentos dela são de gente ruim, ninguém me tira da cabeça. E depois, pra que oxigenar o cabelo desse jeito?
E começaram as implicâncias. Por que era que Ernestides demorava tanto tempo no banho? Por que botava tanta manteiga no pão? Por que andava em casa com meias de seda? Por que vivia na janela, quando Pedrinho estava no emprego?
Para Noel a casa agora se tornara quase insuportável. Pequena, não oferecia refúgios, retiros, esconderijos. .. Seus moradores estavam a se encontrar a cada passo.
Ernestides fazia o possível para deixar bem claro que ”não queria saber de intimidades com o resto do pessoal”. Só procurava Fernanda. Aborrecia D. Eudóxia e não tomava conhecimento da existência de Noel.
No fim da primeira semana depois do casamento, apareceram uma noite os pais de Ernestides. Modesto estava com a mesma roupa preta, as mesmas botinas de elástico e o mesmo colarinho duro de ponta virada. A mulher, que se chamava Adélia, era uma criatura muito mais alta que o marido, gorda e repousada. Entraram muito sorridentes, com ares de parentes, num ”à vontade” meio forçado, como essa alegria convencional de piquenique.
- Adélia foi para um lado da sala com Fernanda, D. Eudóxia, Ernestides e Pedrinho. Modesto procurou Noel, que ficou alarmado.
Os pais de Ernestides faziam o possível para estabelecer um ambiente de cordialidade. Não eram agora gente de casa? Tudo não estava no melhor dos mundos?
- Adélia falou no tempo, em fitas de cinema... E finalmente:
- Então, que tal é a casa? Parece bem boazinha, não? D. Eudóxia continuou muda. Fernanda interveio:
- É muito pequena. Mas dá para se viver nela. Sorrisos.
- A nossa também não é grande, mas é muito arejada, muito clara. Eu não gosto de casa escura, Deus me livre.
Sorriso de Fernanda. Novo silêncio.
- A senhora é professora, não é?
- Sou.
- Eudóxia mantinha o cenho cerrado.
- Em que escola trabalha?
- No Partenon.
- Ah! Pausa.
- E o filhinho? É menino, não é?
- Não senhora, é menina.
- Ah! Pensei que fosse menino.
Pedrinho e Ernestides, de mãos agarradas, cochichavam. Depois deixaram a sala e foram refugiar-se no corredor escuro.
Modesto Braga não calava a boca. Noel olhava fixamente para o interlocutor, mas seu pensamento estava longe, muito longe, seguindo a melodia que vinha dum rádio da vizinhança.
- ... porque o senhor vê, essas ruas esburacadas são uma vergonha... A Prefeitura não toma uma providência e o forasteiro que é que vai dizer da nossa metrópole? A semana passada escrevi uma carta às ”Queixas do Público”. Me assinei ”Um amigo do progresso”. O senhor leu?
Noel despertou, sacudiu negativamente a cabeça.
- Pois é. O senhor, que é jornalista, devia abrir uma campanha. Outra coisa que não estou de acordo é tirarem o nome de ruas tradicionais para botarem o nome de homens vivos. Pois é. Isso não está direito.
- Adélia tomava intimidades, fazia confidências. Tinha mais três filhas para casar.
- A senhora não sabe o que é vestir quatro moças. É sapato pra uma, vestido pra outra, pó de arroz pra outra. O pobre do Modesto...
Fernanda compreendia tudo. Haviam pescado Pedrinho. Atraíram-no para dentro de casa. De propósito, deixavam os dois a sós... Era preciso casar as filhas. A vida era apertada e no fim de contas as raparigas tinham direito a um bocado de felicidade.
Só às onze horas é que o casal se retirou, cheio de protestos de amizade e oferecimentos. No corredor, Modesto disse:
- Pois é, Sr. Noel. Faça aquela campanha. Eu me comprometo a continuar escrevendo para as ”Queixas”. bom. Boa noite!
Mais tarde, já no quarto, enquanto dava o peito a Anabela, Fernanda disse ao marido, que enfiava o pijama atrás do guarda-roupa.
- Sr. Noel, estamos bem arranjados com essa parentaIha.
Noel apareceu amarrando o cordão das calças.
- Acho tudo isso nojento, indecente . . . Meteu-se na cama. Fernanda sorriu:
- Que é que se vai fazer? É a luta. Não se pode propriamente censurar...
Noel puxou as cobertas até o queixo.
- E os nossos problemas em vez de diminuírem, aumentam. Agora temos mais essa sirigaita...
Fernanda não respondeu. Olhava para Anabela, que tinha as faces respingadas de leite. Sorria. Que importavam todos os problemas do mundo se ela tinha aquela criaturinha?
Noel dormiu logo. Fernanda ficou muito tempo pensando. com a vinda de Ernestides subia a cinco o número de seus filhos.
Quando queria designar o grupo de Vasco - o cachorro, o preto e Álvaro - D. Clemência dizia eles com um tom de voz significativo que exprimia todo o seu ressentimento. Eles lhe desarrumavam toda a casa. Delicardense era relaxado: entrava com os pés embarrados, já quebrara dois pratos e na parede da cozinha deixara estampada a marca graxenta de seus dedos. Se chovia, Casanova entrava arrepiado, sacudia o corpo magro e respingava as pessoas e coisas que acontecessem estar próximas, depois saía, lampeiro, e deixando as suas pegadas no soalho - no soalho que com tanto trabalho e com o perigo de ter uma cólica de fígado ela lavara. Mas o pior de todos era Álvaro. Cuspia no chão, enchia o ar com a fumaça de seu cachimbo de cheiro pestilencial. Usava as toalhas de Clarissa. Era barulhento, cantador e tomava ares de dono da casa. Até quando ia durar aquilo? com Delicardense, D. Clemência ralhava. Ameaçava Casanova com a vassoura. Mas tinha de recalcar as palavras que desejara despejar na cara de Álvaro. Tanto este como Vasco tinham agora o hábito de almoçar e jantar depois delas. Comiam na mesa da cozinha, junto com Delicardense e o cachorro. Conversavam e riam como se estivessem num galpão. E quem pagava a comida com que eles assim tão alegremente enchiam o pandulho era Clarissa. Dos outros ela não se admirava, mas de Vasco, francamente, parecia mentira...
Os primeiros dez dias que o rapaz passou na companhia do pai foram de surpresas, emoções, sensações desencontradas. Saíam ambos a caminhar à toa pelas ruas, seguidos de Casanova. Álvaro contava as suas viagens, os seus amores, as suas aventuras e os seus sonhos.
E quando um dia Vasco perguntou ao pai que era que ele pretendia fazer, Álvaro encolheu os ombros, cuspiu, passou a manga do casaco nos lábios e:
- O inverno está terribile - disse. - Quando Ia bela primavera chega io tenho um plano.
Não quis dizer o que era. Talvez não seja nada achou Vasco. E começou a inquietar-se. Não podiam ficar sempre naquela vagabundagem. Era preciso encontrar trabalho. Era uma vergonha viver à custa das mulheres.
Álvaro parecia não ter nenhum problema. Conquistava aos poucos a vizinhança. Clarissa gostava de ouvir as suas histórias, a sua voz cantante, de ver os seus gestos de ator, o seu inalterável bom-humor. Noel já via nele uma boa figura de romance e Fernanda compreendia que Álvaro seria o tipo de homem ideal se o mundo não estivesse tão atolado no lodo, não vivesse tão preocupado com o ganhapão e com um milhão de tolas convenções. Viver cantando e marchando, vendo o mundo, colhendo despreocupado todos os frutos do caminho sem perguntar a quem pertenciam ... Porque no mundo ideal de Álvaro Bruno não existia a palavra propriedade - os homens simplesmente viviam como bons animais. Tudo era de todos e de ninguém. As palavras futuro e passado não tinham nenhuma significação.
Don Pablo fizera também estreita camaradagem com Álvaro. Entretinham longas e animadas discussões sobre política internacional e já Álvaro fazia parte do grupo que se reunia no café ao redor do espanhol.
Até Orozimbo já rira um dia das histórias de Álvaro. O Rev. Bell arrancara dele uma promessa de ir qualquer domingo à Escola Dominical. Álvaro chamava a Lu ”Ia madonina dos olhos tropicale” e dizia que tinha visto uma sósia dela num café de Xangai. Ernestides era para ele ”Ia bimba dos cabelo di fuoco” e Pedrinho o ”jovem marito precoce”. O Dr. Seixas também não podia esconder a sua simpatia pelo pai de Vasco. Sua má vontade para com os velhos não atingia Álvaro Bruno. Porque ele via ainda naquele homem de cinquenta anos uma criança grande. Só D. Magnólia, D. Eudóxia e D. Clemência é que, aliadas, hostilizavam Álvaro. Se estavam reunidas conversando e ele chegava, faziam um repentino silêncio. Se Álvaro começava a contar uma história, elas desertavam a sala. Agora era ele o centro da antipatia das três mulheres.
Quando Álvaro teve notícia do livro de Noel, interessou-se.
- Romancista - disse ele, soltando uma baforada de fumo de cachimbo no rosto de Noel. - Tuo romance pode ser belo. Ma o meu é muito mais belo. Qualquer note io te conto a minha vita.
E essa noite chegou. Foi na casa de baixo. Pedrinho e Ernestides tinham ido ao cinema. D. Eudóxia e D. Clemência fizeram uma concentração na casa de D. Magnólia.
Clarissa e Fernanda sentaram-se no sofá. Noel permaneceu ao pé da mesa. Vasco recuou para o canto mais remoto da sala. E no meio do compartimento, como se estivesse representando para uma grande plateia, Álvaro Bruno contou a sua vida numa linguagem atrapalhada que não era nem italiano nem português.
- A mia mama era Ia filha única dum capetano norveguese duna... duna..., como se diz o barco que pesca balena?
Olhou em torno, pedindo auxílio. De seu canto Vasco falou soturno, sem descobrir o rosto que suas grandes mãos escondiam:
- Baleeira.
- Eco! Duna baleeira. Non sei per que ele truxe numa viage a filha, uma bimba de quindici ano... O pobre capetano gostava de tomare o suo gin. Una note voltava pra bordo gingando come un navio in tempesta e fui atravessare a plancha e perdeu o equilíbrio... paf! e se fui na água e só apareceu no outro dia, morto, comido dos peixe e a filha dele choro e s’iscabelô (non vi, é claro, me contarom) e o pissoal da . . . da... como se dice mesmo, Vasco? . . . Ostia!... dalcoso . . . dabaleneralevôabimbaproconsule da Norovega e disserono: ”Sinhore consule, o babo desta piquena s’afogô e ela no tem mama e nessuno parente in terra nostra, que é que vamo fazere? E o consule fico com a bimba, podia fazere a cameriera, ajuda no servicio... Bene. Iso tudo si passava em Napole. Io non disse? Pois é... In Napole.
Fez uma pausa para acender o cachimbo. Noel via ali o princípio dum romance. Clarissa apertava a mão de Fernanda e tinha a impressão de que estava ouvindo uma história da Carochinha. Fernanda bebia as palavras de Álvaro: sentia-se contagiada pela grande energia que se emanava dele, pela sua grande vitalidade, pelo seu desmedido entusiasmo.
Álvaro Bruno continuou:
- Mio babo era sarto. .. como se diz? ... ah! alfaiato. Viu a bimba norveguesa, molto bianca e bionda, de olho azurroes’apaixonô. S’incontravanona praia, ficavano olhando u maré e (mais tarde eles me contarano) ela disenhava o ritrato do namorato na arena bianca da praia.
Álvaro fez um arabesco no ar, com a sua mão magra e tostada.
- Casarono. Forano felice. Io nasci. Mia mama, como era bela! io me ricordo, queria que io me chiamasse Sigrid. Um belo nome, eh? Credo que era alguno herói nórdico, qui sabe? um de aquelos corsário antigo. .. Ma mio babo era apaixonato da una Ópera de Verdi La Forza dei Destino.
Álvaro assumiu uma atitude operática: ”In vano, don A’lvaro...” - cantarolou. Soltou uma baforada de fumo e prosseguiu, sorrindo:
- E mio nome fico Álvaro. Quando Ia mia mama morreu, io tinha doze ano. Ela estava passegiando de barco num domingo com mio babo e com me. Di repente si levanto e se slançô na água e io vi apavorato que ela disaparecia. Babo si atira nágua. Nada. Mama surge na superfície.
- A voz de Álvaro era dramática, ele gesticulava, frenético. - Babo grita. Mama disaparece. Babo mergolha. Volta a Ia superfície. Ma dove está mama? Nunca mais piú apareceu.
Pausa. Álvaro foi até a janela. Ninguém falava. Vinham da rua vagos ruídos. O narrador voltou para o seu lugar.
- In soma: muitos anos depois babo um dia me disse: ”Guarda, Álvaro, tua mama sentiva desejo de viajare, non era mai felice con noi, sabe? Era o sangue do babo dela, capetano dum velero que percorreva tudo o mondo. Pobre da tua mama...” Babo aschugou as lágrimas e non disse mai nada. Os ano forano passando e quando eu tinha dizessete ano, fui na escola. Ostia! La mestra non poteva con Ia mia vita. Io non gostava de ficare sentado nos banco, quietinho. Queriapassegiare, andare napraia, etc. .. Aprendi poça cosa. Sabia lere, fare as contas, ma Ia geografia. .. - Álvaro fez uma pausa e depois ergueu a mão num desafio. -... Na geografia nessuno me era superiore. Io adorava, io idolatrava, io era pazzo, como se dice?. .. era... maluco per Ia geografia. E gostava tambê de pitare. Dizia: Io serô pitore. Um dia compre tinta e tela e fice una tentativa de pitare um crepóscolo de Napole. Cristo! Como era belo o crepóscolo e come era horríbile Ia mia pintura! Diventei amigo dum pitore pobre que vivera numa povera stanza como quela di Rodolfo em La Bohême... O pitore me ensinava a misturare as tinta e a disenhare. Passava fome, o pobre. E me dizia: ”Guarda, Álvaro, tu non deve essere pitore. É uma vita de cane. Caro amico, dimenticate o penelo... o pincelo. Si morre de fome”. Ma io non dimenticava o pincelo. E ia todos os dias na casa do pitore. Ele andava doente, magro, cadavérico. Tossia molto. E una tarde io entre devagarinho sem batere, (io sempre faceva assim) e di repente vi o pitore pindurato no ar, como um casaco num cabido... A cara estava roxa, a lengua di fora, scoralata, as mão caída, os olhos molto aberto. Tinha se inforcato.
Fez uma pausa e olhou em torno para gozar o efeito do seu golpe dramático.
- Meu babo - continuou - andava triste, bebia molto e chorava toda as note, chiamando baixinho il nome da mulher. Io trabalhava num picolo hotele de terza classe. Guanhava poço. E giuntava dinheiro para andare ai teatro.
Ia opereta. Tinha dezoito ano e mi apaixonei, fiquei maluco per uma soubrette que se chiamava Margarita Rossi... Como io me ricordo... Bene. La companhia si preparava para fare Ia América, para andare ai Brasile, apresentare per Ia prima vez Ia opereta de Lehar A viduva alegre. Una note tive una ideia. Io poteva andare giunto com Ia companhia... Como seria maravilhoso! Viagiare! Andare a Ia América. Conoscere ótras terra, passegiare per il mondo... No disse nada a mio babo. Falei com o diretore da companhia. Ele me disse: ”É inutile, giovanotto. O quadro nostro está completo. Adio”. Ma io non desanimei. Tuto os dia falava com o diretore. ”Seu diretore, me leve, io faço tudo, posso fazere o cozinheiro, o camelo, o eletricista, o pitore de cenário, tudo que o sinhore quizere.” Non vale a pena contare os detalhe. Finalmente cantei Ia vitória! E una note arrumei a minha mala e deixei mio pobre babo deitado na sua cama, embriagato, com a garrafa de rum cerca da cama. Me ricordo como si fosse questa manhã... E em meno dum mese io estava com Ia companhia a Rio.
Álvaro guardou o cachimbo. Olhou tristemente para o filho por um instante. Depois, ignorando-o por completo, prosseguiu na narrativa.
- Rio! Ah! Io tinha dezoito ano, fuoco no peto, fuoco nos olho, fuoco em toda a parte do corpo. Como é bela Ia gioventú, ah! como é misteriosa Ia vita... - Sacudiu a cabeça com pena. E de repente se animou. - Sucesso! Sucesso assoluto. O teatro pieno. Margarita graciosíssima arrangando palmas e flores. E Ia bela música de Lehar. E os cumprimento. E a gritaria. E as palma. E Margarita agradecendo. Tinha o Morelli, um cómico esplêndido, muito magro e branco. Povero giovanotto! Mas fu um sucesso. O dinheiro corria. O empresário estava sadisfeito. E io também. Depois dos espetágolo os artista ia num restaurante. E io disenhava o perfile da prima-dona, do tenore, do cómico e de Margarita. Eles me pagavano em spaghetti, vino... Que festa! Tuto o mondo falava e giesticulava, gridava, comia, bebia, e era felice. Io guardava Margarita. E Margarita cominciava a guard... a olhare pra mim... Assurdo? No. Io tinha dezoito ano e, Cristo! per que non dire a verdade? era belo. E um dia non resisti a entre sem batere no camerino de Margarita e segure ela e aperte e beije ela bem na boca. Pronto! Margarita non mi deu um schiaffo. Non dice nada. Sorriu. Nem conto o resto, per causa de quela bimba ali.
Mostrou Clarissa.
Os outros riram. Só Vasco continuou sério, lutando com seus pensamentos, com seus sentimentos desencontrados.
Álvaro prosseguiu:
- Ma um dia tudo pioro. O segretário fugiu co o dinheiro. Tinha perdido molto no gioco. A companhia fico disnorteata. O público estava um poço cansado. Una note o tenore dice que non era troxa de trabalha de graça e embargo pra San Baolo. Quem é que ia fazê o Conde Danilo? Estavano todos atrapalhado. Io disse: ”Io faço o Conde Danilo”.Perque io sabia todos os papeie, estava acostumato. Fice. La mia você non era propriamente dum Caruso, claro. Ma era regolare. E a assistenza bateu palma. Ma aquilo non duro. A companhia si dissolveu. A prima-dona ficou amaziata com um plantadore de café de San Baolo. As corista forano prós cabaré. O ponto tomou acido prússico. O maestro fui toca piano num cinema. E io tive una ideia geniale. Disse: ”Margarita, per que é que noi non invitamo o Morelli pra fazê um dueto, tu e ele, e io faço o empresário, publicitário, ecétera?” Ela acho a ideia meravilhosa. E nois incomeçamo a corriere o Brasile. Pará, Bahia, Recifo, nuovamente o Rio. Que aventura! Passamo trabalho, colhemo aplauso e moitas vezes ovo choco na cabeça. Margarita mi amava. E io non tinha ciúme de Morelli perque Morelli... Morelli... como se dice? non era propriamente un homem... compreende? Bene. Às vece nóis passávamo fome, ia embora sfugito duma cidade sem paga o hotele.
Pausa. Álvaro encheu de novo o cachimbo. Acendeu-o e continuou.
- Io nunca me esqueço de quela note. Morelli andava doente, esculhambato, magro. Fui dois ano depois da dissuluzione da companhia. Nóis estava em Curitiba. Mprelli dançava o cake-walk pintado de preto, vestido de fraque verde e cartola nera. Dançava come um demônio. O povo batia palma delirante. Morelli repetiu o cake-walk. O povo bateu mais palma. Morelli me dice: ”Álvaro, io non posso mai”. ”Coraggio!” - dico. Morelli dançou de novo. Decerto estava pálido como um difundo, ma a pitura preta non deixava a gente vê. Quando o póvero chegou nos bastidores e a plateia estava estrugindo de palma, Morelli caiu nos meus braço. ”Agradece, Morelli” - dico. Morelli, em silêncio. Non poteva mai agradecere nada. Estava morto.
Nova pausa. Álvaro olhou as caras para ver o efeito da nova cena dramática. Satisfeito, prosseguiu:
- Restava Margarita. Estava molto gorda, diselegante. O mio amore estava finito. Margarita cantava. Una você horrenda. Una note io escrevi com lápis na parede do quarto nostro num hotele: ”Adio, Margarita. O mondo me chiama. Non posso ficar preso a te. Adio e perdona il tuo Álvaro”.
”Io queria conhecere o Sud. Tinha poço dinheiro. - Espalmou a mão sobre a cabeça. - Ma tinha a minha inteligenza, il mio talento pitórico. De cidade em cidade io pitava ritrato. O prefeito, os industrialistas, os coronele, tuta as figura principale. Ganhava o suficiente per pagare o hotele e a passage per Ia próxima cidade. E muitos mese depois cheguei numa picola cidade dei interiore . . .
Olhou para Vasco com o rabo dos olhos.
- Giacarecanga. - Suspirou. Seus olhos brilharam dum brilho triste, empanado pela fumaça do cachimbo. Que porca água, Ia água de quela cidade. Tinha micróbio. Álvaro Bruno fico doente, tifo. Febrile io gemia in quelo quarto imundo de hotele imundo. - Pronunciou estas palavras cantando, arredondando-as bem. - Perdi a conoscenza. E quando Ia febre e il delírio passárano io estava numa casa estrana, com gente estrana in torno da mia cama. Era Ia família mai ilustre da cidade. II chefe si chiamava... si chiamava... - Voltou-se para o filho. - Vasco, como si chiamava il tuo titio velho, eh?
Vasco não respondeu. Houve um silêncio difícil.
- Bene. Que importa? - prosseguiu Álvaro. - Io estava in convalescenza. In prova de gratitude pite o retrato do buon velho. ..
O coração de Clarissa batia. Ela via o casarão. Rememorava a história que tantas vezes ouvira o pai contar. A chegada do pintor boémio que fora a causa da desgraça de prima Zuzu. . . Parecia mentira que ali na sua frente estava agora o próprio Álvaro Bruno em carne e osso, vivo, vivíssimo, contando a sua odisseia que começara na Europa, numa terra distante...
Vasco fechava os olhos para escutar. Sentia-se como que suspenso no ar. Sua emoção era forte demais para permitir que ele pusesse ordem nos pensamentos.
- Uma note... - Álvaro baixou a voz, tornou-a bem suave. - Fazia luare. Era um giardino antico. Visione meravilhosa! Una bimba entro en cena... Era bruna, de cabelo negro, de olhos negro... Io senti uma qualque cosa estrana... La bimba passo, firme, tinha um passo másculo, era soberba, orgolhosa. Era come uma Walkiria. Si chamava Zulmira.
O som deste nome penetrou na consciência de Vasco como uma agulhada. Ele teve vontade de erguer-se num pulo e gritar: Basta! Ou então de sair correndo pela porta, ganhar a rua e ir procurar a companhia distante e discreta das estrelas, velhas amigas silenciosas. Mas quedou-se.
- Visione ideale. Era próprio 1’amore. Álvaro Bruno nuovamente apaixonato, pazzo, maluco. E Ia bimba, prima orgolhosa, remota, esquiva. Mas io fazia serenata pra ela, pitava o ritrato dela, contava as mia aventura. E um dia io tive Ia rivelacione. Ela mi amava. E parlamo em casamento. Ma tuta a família non queria. O velho fico furioso. Deceva . . . dizia que io era um aventurero, estranero, desconhecido. Mas Ia bimba era firma: Io quero casa com o Álvaro. Per fine se realizo o casamento, o dia mais felice da mia vita. Toda Ia gente estava fúnebre, Ia boda simelhava um funeralle. E io e Ia mia Zulmira embarcamo pra PorfAlegre. E um ano depois nasceu Vasco. Io era sócio dum fotógrafo, ele fotogravava e io pitava a óleo. Fui felice um ano e tanto, quase dois. Mas comicei a sentire o chiamado do mundo... Aquela vita estagnata, monótona... Zulmira era buona e bela. Vasco era um amore. Ma io era um bruto mascalzone. Era o sangue de Ia mia mama norveguesa. .. La mesima fúria que fece Ia mama se atirare no maré me puxava per Ias viage. E il mio trabalho ia male. O fotógrafo bebia. E uma note, é horrible ma é verdade, io tarnbê cheguei em casa mia bêbado. Bruto. com o punho fechado Álvaro bateu na própria cabeça, com força. - Giurei a Zulmira que non bebia mai piú. Mas Ia felicita non ritornó in casa nostra. E io pense. La família da minha sposa é rica, honrada, tradicionale. com me, ela é infelice. com eles, ela pó ser feliz, gozare conforto e educare Vasco come um gentiluomo. Fu no tempo da guerra. Os voluntário italiano que moravano no Brasile ia pra Europa. Depois duma note sem dormire io me apresente ao consule come voluntário. Ele me deu passágio. E o bruto Álvaro pazzo embarco. Io non enxergava a cidade perquê as mia lagrime apagavano tuto. Io pensava na mulher e no filho. Mas me consolava: eles ia pra casa da família... Io tinha o plano. Non ia pra guerra, sfugia em Génova. Pausa. tom de voz triste. - Ilusione! Passei três mese num campo de concentraçô. Depois, a trinchera. Ostia! La guerra é una cosa sporca! Felicemente una bala me pego na perna. Fui no hospedale. Quatro mese. Ritornei a Ia trinchera. Ma felicemente no ano seguinte Ia guerra acabo. E Álvaro Bruno, esculhambato, triste, enervato, fico sem rumo na vita. Due ano de miséria, quasi de fame. Ma...
Nova pausa. D. Eudóxia entrou, olhou, viu que Álvaro estava ainda ali e atravessou a sala em silêncio, sumindo-se na cozinha. Ouviram-se passos na casa de cima. ”Mamãe já voltou” - pensou Clarissa.
- Um dia pareceu um velero sueco. E poucas horas depois Álvaro Bruno era marinheiro. O velero ritornó a Suécia. Depois fu a aventura. Viagiamo per los mares dei sud. Meravilha! - Álvaro se entusiasmou. - Taiti. Honolulu. Estas isole son veramente o paradiso! Em Taiti Álvaro Bruno se embriago numa botega e o velero fu s’imbora sem ele. Eco! Álvaro Bruno passo um ano em Taiti. Aprendeu francese, inglese... poças palavra, é claro, o suficiente. As nativa gostava de Álvaro Bruno. Era próprio o paradiso. Ma um dia... il creposcolo... il vento nele palme... o desidério de andare sul maré... Ah! Álvaro! E seis mese piu tarde io stava em Xangai. Xangai! La cita mai estrana dei mondo. En Xangai io fique doente, gravemente. Um povero coolie me abrigo in casa sua, mi trato e, magro e cadavérico, Álvaro Bruno, il aventurero, si alevantó da cama. La miséria, Ia humiliazone, il sofrimento, tudo questo io sofri. Ma era sempre alegro, perquê era gióvane. E uma note io encontre uma cinesa que si apaixono por Álvaro Bruno. E nos mese seguinte io tive buona cama, buona comida e buona ropa. Ma, Cristo! non si puó pasare tuta Ia vita come gigolô duma cinesa em Xangai. Nel ano prossimo io estava sul maré, rumo di Europa. Disenteria a bordo. Morte. Pânico. Dopo una tempesta furiosa. Quando chego Ia calma, faltavano treis tripulante...
Álvaro sentou-se com ar cansado.
- Passaram os ano. Um dia io senti desiderio de voltare ao Brasile. Dove estava a minha mulher? Mio filho certamente era um homem... Curiositá, sentimentalismo, rimorso? Non só... Um navio me levo ai Pará. Dopo io vim descendo... Dificilmente. Senza dinhero. Passando fome. Fu pitore de parede em S. Salvadore. Garçon dum restaurante italiano em Recifo. II tempo passava... Muitas aventura. Ma io non era mais gióvane. Dove estava il belo Álvaro Bruno? Dove? Tudo é diferente quando Ia giuventú sfoge . . . Quatro ano dopo de sair do Pará io chegue una tarde na picola cita dove conheci Ia bimba que era come una Walkiria...
Silêncio.
- Eco a história. Me contarano tuto. Povera Zulmira. Álvaro, sei um bruto! Ma que colpa! Que colpa! È o sangue da mia mama norveguesa que amava il mondo, as viage... Io amo el mondo e as viage. Ela disenhava. Io disenho.
Ergue-se de repente.
- Vasco disenha!
Sacudia a mão na direção do filho.
- Mistério de Ia vita. Vasco, na tua vena corre um poço de sangue viking. Os viking do antigo tempo, os corsários, os conquistadore. Filho, Ia vita é bela. Que bestia era Petrarca. Filho mio, o mondo tem duas cosa bela: giuventú e aventura.
Álvaro Bruno foi até a janela e encostou a testa nos vidros embaciados e frios. Depois voltou para o meio da sala. Havia ali dentro um nevoeiro criado pela fumaça de seu cachimbo. E no meio da cerração agitava-se aquele homem estranho, magro duma magreza musculosa, tostado como um marinheiro, com grandes mãos encardidas e longas.
Noel olhava agora para Álvaro com outros olhos, olhos que não viam mais aquelas roupas surradas e feias, que não viam os maus dentes. Tudo isso desaparecia - no meio da cerração. Álvaro Bruno era agora um herói de romance.
Fernanda contemplava o pai de Vasco com simpatia, fazendo reflexões cheias de dúvidas. Até onde ia a verdade do que ele contara? Onde começava a fantasia? Mas... que importava? Verdade ou mentira - que importava? Ele tinha contado uma bela história.
Clarissa olhava para Álvaro com uma admiração a que se misturava inexplicável temor.
Vasco só tinha ouvidos para as ressonâncias que as palavras do pai haviam despertado nele.
Sentia um nó na garganta. Tudo era tão estranho, tão inverossímil... Histórias passadas havia tantos anos, como se não tivessem acontecido, como se fossem apenas uma das muitas lendas que correm pelo mundo... E o mais aflitivo era que, agora que Álvaro tinha terminado o seu raconto, supunha-se que ele, Vasco, devesse dizer alguma coisa. E ele não encontrava palavra. Estava ali amarrado, vermelho, com um formigamento na pele.
Silêncio. Fernanda levantou-se.
- vou fazer um cafezinho pra vocês. Vamos, Clarissa. Caminhou para a cozinha. Clarissa seguiu-a. Álvaro olhou para Noel.
- Eh! Romancista! Eco Ia história. Qual é a sua imprezione?
Noel rebuscou uma palavra expressiva. Não encontrou. Sacudiu a cabeça afirmativamente, devagar, exprimindo a sua admiração.
Álvaro caminhou para Vasco, que continuava sentado no seu canto. Bateu-lhe no ombro de leve.
- Filho. Sabe da história do piru? La gente risca com giz um círculo in torno do piru. E o cretino do piru crede que está preso. - Fez uma pausa. Depois: - Guarda, Vasco, Ia vita é bela, il mondo te chiama. Salta o risco de giz, no seja come o piru, Cristo! Tu tem vinte e poucos anos!
Fez um gesto violento, esmurrou o ar. Foi de novo até a janela. Esfregou a vidraça com a palma da mão e ficou olhando a rua por um instante.
Quando voltou a cabeça só encontrou Noel na sala, tamborilando, na mesa, pensativo. Vasco tinha fugido.
Don Pablo e Álvaro entretinham animados colóquios no pátio, por cima do muro. Eram discussões sobre política, geografia, literatura. Don Pablo falava no seu partido, mostrava jornais da Espanha, da Argentina, comentava as reuniões da Liga das Nações e sempre terminava fazendo planos para a salvação política e económica do mundo: ”Se yo fuera Mussolini o Hitler...” Álvaro escutava, descrente. Não achava que Mussolini ou Hitler fossem grandes homens. Nem César! Nem Napoleão! Grandes foram Marco Polo, Amundsen, Casanova, o Cel. Lawrence, Piccard... Os que se aventuravam sozinhos ou com um punhado de companheiros valentes, os que exploraram os mares antigos, os pólos, a estratosfera. Os que conquistavam terras e conhecimentos sem o auxílio de -exércitos e sem derramar sangue. Don Pablo ficava escandalizado.
Álvaro batia todas as tardes à uma e meia na porta da casa de Don Pablo, para levá-lo para o ”cafesito”. D. Mercedes vinha com o marido até a porta. Beijavam-se e ele lhe chamava ”preciosa”. Depois Don Pablo saía com o amigo. Mercedes ficava à porta. E à primeira esquina o espanhol, como de costume, se voltava e fazia com o chapéu um cumprimento cavalheiresco.
Iam os dois para o café e ficavam cercados de amigos. Jogavam dados e conversavam. Tomavam parati em pequenos copos. Álvaro se animava e contava as suas aventuras. Don Pablo sentia-se agora um pouco roubado. Porque, antes da chegada do pintor, era ele o centro do grupo, o que discursava enquanto os outros permaneciam num silêncio cheio de admiração.
O inverno continuava duro. Vasco dera um de seus cobertores ao pai e se cobria com a toalha da mesa. Tinham posto o negro Delicardense a dormir debaixo da escada.
Pela manhã quando, transida de frio e com o rosto arroxeado, Clarissa saía para o colégio, Álvaro, que agora se oferecera para lhe fazer o café todos os dias, murmurava, sacudindo a cabeça em sinal de pena:
- Estúpida cosa é o trabalho! Pra quê trabalhare? Os passarinhos trabalhano? As estrelas trabalhano?
E contemplava Clarissa com simpatia, batia-lhe nas costas da mão com ar paternal. E um dia, olhando para os lados, muito a medo lhe pediu:
- Eh, Clarissa, non impresta cinco mil-réis per o seu titio, eh?
Ela corou, gaguejou, voltou ao quarto e trouxe escondida na mão fechada uma cédula de cinco mil-réis, que passou furtivamente para o bolso de Álvaro.
- Grazie, grazie. Clarissa é buona. - E depois, com ar de conspirador. - Non dica pra Vasco, si?
Naquela noite Álvaro voltou para casa embriagado. Entrou no escuro, atravessou a sala cambaleando, chegou ao quarto e ao fechar a porta perdeu o equilíbrio, tombando com um baque surdo. Vasco, que estava dormindo, acordou alarmado. Tateando, procurou a caixa de fósforos, acendeu a vela e olhou... Viu ali a seu lado aquele homem estirado. Ergueu-se rápido, inclinou-se sobre Álvaro. Sentiu o bafio de cachaça. Lembrou-se imediatamente de Jovino. Ouviu as palavras de João de Deus: Bêbedo como o pai.
- Papai - murmurou. - Papai, que é isso?
O homem parecia dormir. Vasco sacudiu-o. Nada. Olhos fechados. Boca entreaberta. Vasco encostou o ouvido no peito de Álvaro. O coração batia regularmente. Ficou tranquilo. Pegou uma coberta e estendeu-a por cima do pai.
Em cima da cama Casanova olhava com seus olhos parados e líquidos. Vasco apagou a vela e deitou-se.
Ficou entregue aos seus pensamentos. Ouvia agora a respiração compassada do velho. Não podia mais ignorar a presença dele.
Fazia frio. Vasco enrodilhou-se debaixo da coberta fina.
O velho tinha bebido... Era um vagabundo... Só ele? Não. Os dois. Estavam ali atirados, inúteis, sem trabalho. Clarissa trabalhava para sustentar a casa. Agosto estava a findar...
Casanova rosnava de olhos fechados. A escuridão do quarto era compacta e fria.
Vasco fechava os olhos e contra o fundo das pálpebras via a sua vida como numa tela mágica de cinema.
Lembrou-se de Jacarecanga. De suas horas solitárias. Do seu desejo de viajar, fugir àquela lama, àquela atmosfera empestada de brutalidade, crime e embotamento moral. Sonhava com uma vida mais limpa. Tinha uma confiança ilimitada em si mesmo. A mesma confiança que sentia ao sair para as suas aventuras da infância: derrubar uma casa de marimbondos, roubar frutas em quintal alheio, derrotar o batalhão dos guris da rua vizinha. Naquele tempo também pensava no pai como se ele fosse uma figura de lenda... Apesar de tudo quanto de mal se dizia do velho em sua casa, ele sentia pelo pai que nunca vira - e que não sabia se estava vivo ou morto - uma irresistível fascinação . . .
E agora? Tinha fugido de Jacarecanga. Viera para uma cidade maior, mais limpa, mais clara. Mas o tempo passava e ele não encontrava trabalho. Onde estavam os seus sonhos? E aquela confiança em suas forças? Por que esta sensação amarga de enferrujamento, de velhice?
De repente surgia mais um problema. Álvaro. Já lhe queria bem. Era um companheiro. Como Casanova. Como Delicardense. Não havia diferença. Sempre lhe parecera que no dia em que ele encontrasse o pai as coisas se iam passar de outro modo. Seria o supremo encantamento ou a suprema decepção. Não era nada disso. Ou fora ambas essas coisas, alternadamente? Uma revelação encantadora aqui, uma decepção mais adiante e, ao cabo de todos estes dias, um sentimento de amizade, de solidariedade, de companheirismo.
Álvaro respirava forte. Casanova rosnava. E Vasco abria os olhos para encontrar sempre a escuridão povoada de perguntas ansiosas.
Quando Noel terminou o seu romance, Fernanda convidou Vasco, Clarissa e Álvaro para ouvirem sua leitura na casa de baixo. Na primeira noite Álvaro compareceu. Escutou em silêncio, um pouco inquieto, remexendo-se na cadeira. No fim do serão coçou a cabeça, procurou uma palavra e acabou não dizendo nada. Na segunda noite apareceu tarde, cheirando a cachaça. Na terceira não foi. Na quarta, Fernanda terminou a leitura. Noel esteve mergulhado numa poltrona durante todo o tempo em que a mulher ficara a ler os últimos capítulos.
Fernanda colocou os originais em cima da mesa, cruzou os braços e perguntou:
- Então? Que é que vocês dizem? Falem franco. Durante quatro noites tinham acompanhado a história
de João Ventura. Uma sucessão de fatos cotidianos, terraa-terra, girando em torno da necessidade de comer, vestir, morar. Do princípio ao fim do livro, João Ventura lutara com a falta de emprego, com as contas que lhe apareciam à porta, ao passo que a mulher em casa se defendia contra as investidas dum sujeito que a visitava e a queria para amante. Fernanda tivera o cuidado de cortar todos os voos da imaginação de Noel. Cancelou adjetivos, imagens, frases inteiras de diálogos - tudo no sentido de dar ao livro a maior sobriedade, a maior verossimilhança. Haviam discutido muito em torno do final. Noel escrevera:
João Ventura subia alvorotado as escadas de sua casa. Achara um emprego! Sentia vontade de proclamar isto aos gritos para toda a vizinhança. Seu coração batia apressado. Quantas vezes galgara aqueles mesmos degraus a passos lentos, de cabeça baixa, abatido, deprimido, infeliz? E a cara de tristeza com que a mulher perguntava: ”Nada, Janjão?” E a vergonha, o desalento e a humilhação com que ele respondia: ”Nada, Juventina”. Oh! Mas agora tudo era diferente. Ele tinha um emprego!
Entrou em casa quase a correr. Abriu a porta estabanadamente. A mulher veio para ele com a sua cara desalentada, que, sem que ela falasse, fazia a pergunta angustiante de todos os dias.
João Ventura quis falar mas não pôde. A comoção lhe trancou a voz. Ele fez um esforço desesperado e disse:
- Estou empregado.
Atirou-se numa cadeira e desatou a chorar.
Um Lugar ao Sol
Fernanda achava que João Ventura não devia chorar. Noel era de opinião que naquela conjuntura o pobre homem não podia fazer outra coisa. Mas por fim, ao lembrarse de que, aceitando as suas sugestões quase ditatoriais, o marido se havia violentado, Fernanda sorriu:
- Está bem. Deixe o seu herói chorar.
Agora ela olhava para Vasco e para Clarissa, esperando que eles respondessem à sua pergunta.
- É lindo - disse esta última.
- Está falando com sinceridade ou é só para nos agradar?
Noel continuava mergulhado na poltrona. Queria se sumir. Não ousava encarar os outros. Que seria dele no dia em que o livro estivesse publicado, nas mãos do público?
- É lindo mesmo - confirmou Clarissa.
Vasco passou a mão pela cabeça desamparadamente. Depois falou sem olhar para Fernanda.
- O romance... o romance está bem. Não me levem a mal... mas que é a vida do tal João Ventura diante dessa coisa maluca que é o mundo de hoje? Morre gente como rato na China... Milhões de homens desempregados... Ameaças de guerra... Casos de verdade que são mais impossíveis que a mais doida das histórias inventadas... Gente subindo à estratosfera... Outros indo até o fundo do mar... Um negro se atirando do 40º andar dum arranhacéu de Nova York só porque Joe Louis perdeu para Schmeling... Essa coisa misteriosa, horrivelmente bela, que é a vida moderna... Tudo vai fervendo... E no entanto a gente fica de barriga pró ar lendo a história dum sujeito que se chama João Ventura e que não acha emprego. .. Sim, o romance está bom, bem escrito... Não levem a mal, é a minha opinião. ..
Calou-se, já arrependido de ter sido tão franco. Noel desculpou-se:
- O romance é mais de Fernanda que meu. ..
E corou profundamente, ao perceber que suas palavras podiam ser interpretadas como uma fuga à responsabilidade de autor diante das objeções do amigo.
Fernanda levantou-se e foi bater no ombro de Vasco:
- Camarada velho, tente abranger todas as manifestações da vida num romance... A vida integral em todos os seus aspectos, desde o micróbio até o arranha-céu... Consiga isso, se é capaz. Me traga o escritor mais bichão do mundo. Veja se ele consegue. No fim, por mais que se esforce, a coisa não passará da história dum certo João Ventura. Será, em última análise, a mísera experiência do autor na forma de novela. No fim de contas, limitação por limitação...
Noel encorajado, reforçou:
- E depois, veja, Vasco. Essa experiência transformada em romance ainda vai ser discutida. O que para um leitor é verossímil, para outro é absurdo. Tudo o que já aconteceu para a gente ou tudo o que nós vimos acontecer para outros é considerado possível. Tudo o que está fora dos limites da nossa experiência tende a nos parecer absurdo ou impossível.
- Não sei... não sei... - repetia Vasco, sacudindo obstinadamente a cabeça. - A vida é essa coisa estupidamente bela... e absurda. Não sei... Ninguém sabe...
- Só o Rev. Bell - disse Fernanda com um sorriso condescendente. - O mundo se divide em pessoas que vão à Escola Dominical e pessoas que não vão. Na vida as criaturas se dividem em três categorias: As que estão destinadas ao céu; as que estão destinadas definitivamente ao inferno e as que, se quiserem ir à Escola Dominical, podem ainda ganhar o céu. Quanto às qualidades morais, para o reverendo as criaturas podem ser boas ou más. Tudo está resolvido. Os bons serão recompensados. Os maus irão para o inferno a menos que se arrependam em tempo.
- E por isso o Rev. Bell não escreve nem lê romances ... - observou Vasco.
Riram e mudaram de assunto. Falaram em Lu, que os pais iam mandar para um internato metodista (matrícula gratuita conseguida pelo Rev. Bell) por causa do namoro com Olívio. Falaram em Olívio, cuja legenda de jogador desbragado e perdido enchia a cidade. Contavam-se coisas do arco-da-velha. Ganhava dezenas de contos de réis numa noite para perder tudo na outra. Depois, embriagava-se para esquecer.
Voltaram ao romance.
- Agora precisamos de um título - disse Fernanda. - Vamos fazer um concurso entre nós três. Dê o seu palpite, Clarissa.
- Voto em ”A Saga de João Benévolo” - antecipou-se Noel.
Fernanda fez uma careta.
- Não gosto. Saga... Pretensioso, precioso. E você, Vasco, qual é o nome que sugere?
- ”Uma Vidoca” ...
- Reprovado. E você, Clarissa?
- ”Luta”.
- Sofrível.
- Que é que você sugere? Fernanda encolheu os ombros.
- Eu queria um título que desse uma ideia da luta cotidiana da gente para conseguir um cantinho no mundo. Uns precisam de vastos quilómetros quadrados. Outros se contentam com alguns centímetros onde possam meter a carcaça. Um título que lembre essa luta sem glória de todos os dias, luta para encher o pandulho, para vestir o cadáver ...
- ... para alimentar os sonhos - acrescentou Noel.
- Sim - concordou Fernanda. - Isso também. E não me ocorre nada. Quem arranjar um título bom ganha um prêmio.
E naquela noite não se falou mais no livro. Mas todos continuaram pensando nele. Vasco descobrira em João Ventura muito de sua angústia, de suas dúvidas e de seu desespero. Clarissa ”imaginava” que Vasco devia sentir o que sentia João Ventura. Fernanda tinha esperança no romance: era o primeiro passo de Noel para se reconciliar com a vida e podia ser também o seu primeiro degrau na carreira de escritor. Noel via no livro uma traição ao seu sonho de arte, uma violação de sua natureza mais íntima.
E por isso nenhum dos quatro esquecia o romance, embora ficassem a falar em outras coisas.
Vasco decorou as vitrinas duma casa de fazendas que anunciava uma liquidação de artigos de inverno. Ganhou trezentos mil-réis e foi feliz durante alguns dias. Ajudou nas despesas da casa, comprou uns sapatões para Delicardense, deu um chapéu e cinquenta mil-réis para o pai e trouxe um presente para D. Clemência. Álvaro se queixava de que não podia pintar por falta de material. Uma tarde Vasco apareceu com uma tela, uma caixa de tintas e um feixe de pincéis.
- Filho, como sei buon! - Beijou-lhe a face. - Agora teu babo vai pinta e ganha dinheiro.
Traçou projetos grandiosos. Faria uma exposição. Anunciaria nos jornais. Pediria o salão da Biblioteca Pública. Seria um sucesso. Iam todos ficar ricos. Alugariam uma casa mais confortável e poriam nela móveis melhores.
- Clemência ouvia tudo com ar céptico. A sua revolta crescia de dia para dia. Não podia suportar a presença daquele homem, daquele intruso e de seu cachimbo horrendo.
Num belo sábado de sol, Álvaro convidou Vasco para sair.
- Filho, io te mostro um descobrimento maravilhoso que eu fice. Convida o romancista.
Desceram e levaram Noel. Tomaram um bonde e apearam perto do rio, no princípio dos Navegantes.
Álvaro estendeu o braço num gesto largo, mostrou a paisagem, com ar tranquilo e orgulhoso de proprietário.
Era uma faixa de areia que avançava rio a dentro. Havia ali três barcos velhos. Num deles, na casa da popa, onde uma chaminé fumegava, uma mulher gorda vestida de vermelho pitava um cigarro de palha. Roupas secando ao sol, penduradas numa corda que ia do mastro quebrado até a ponta da proa. As barcas tinham nomes pitorescos: Rosa Verde, Primavera, Juraci. Estavam carregadas de laranjas e bergamotas maduras. Os barqueiros vendiam as suas frutas. Via-se um galo empoleirado numa verga da Primavera na ponta da qual pendia uma gaiola de taquara onde um pintassilgo cantava. Boiavam laranjas apodrecidas na água tranquila. Marrecos nadavam entre o areal e as barcas: seus bicos cor de laranja e seus pescoços dum azul-elétrico fulgiam ao sol daquela tarde de inverno. Uma grande vela de pano podre e esburacado estava estendida na areia. Crianças brincavam descalças na proa da Rosa Verde. Longe se via uma ilha - paredes brancas e telhados vermelhos contra o verde duma floresta de eucaliptos.
Álvaro armou o cavalete e sentou-se num caixão vazio de gasolina. Voltou para os rapazes um rosto que dizia: Não me incomodem agora.
Vasco e Noel saíram a caminhar.
Perto do areal, contrastando com as barcas de madeira apodrecida, tripuladas por gentes miseráveis vindas das ilhas, numa promiscuidade de velhos, crianças e bichos domésticos - erguia-se, branca e higiénica, a casa do aeroporto da ”Panair”. Um avião estava pousado na água serenamente, como um grande pássaro, as asas de alumínio abertas.
- Veja o contraste - disse Vasco. - Duas civilizações. Dali daquelas barcas até aqui ao avião, aparentemente há uma distância de cento e poucos passos. Mas na verdade são centenas de anos... Quando será que todo o mundo vai poder gozar igualmente dos benefícios do progresso?
Noel sacudiu a cabeça, pensativo.
- Eu sou um animal! - continuou Vasco. - com um sol destes, com um dia destes e um veleiro passando lá no rio e o vento nos eucaliptos eu ainda me lembro de filosofar. É uma doença. Eu acho que são os malditos livros. Às vezes eu penso se não seria melhor queimar as bibliotecas...
com os olhos no veleiro Noel observou:
- Há pouco você falava em progresso e civilização. Agora quer queimar as bibliotecas...
- Eu nem sei mais o que digo... O melhor é olhar a paisagem. Olhe só a cor da água. Violeta? Azul? Cinzenta? Parda? Prateada? Pobre do velho Álvaro! Não acho que ele consiga pintar isto...
- Deve estar com a mão emperrada. ..
Ficaram olhando o rio. O vento chamalotava a água, que era duma cor indefinível que deixava Vasco ao mesmo tempo maravilhado e irritado. As montanhas azuladas, longe. O ar luminoso. O avião a balouçar-se mansamente. Aguapés soltos à tona do rio. O veleiro passando...
- Este momento é fugidio... - disse Noel. - Se vem uma nuvem e esconde o sol, toda esta beleza desaparece. Tudo fica cor de cinza. Nós também.
- A única maneira de possuir a paisagem é prendê-la numa tela. Oh! Mas eu sinto que nunca passarei dum pintor facão, dum troca-tintas... A sorte é que esta minha depravação, sim, porque um homem normal não sente desejos de pintar nem de escrever, não chega a me levar ao desespero. Prefiro viver a ler ou pintar.
Voltaram para junto de Álvaro, que misturava tintas. Ficaram os dois sentados na areia a conversar. O vento trazia-lhes às narinas o mau cheiro das frutas podres.
- Ao menos na pintura este mau cheiro desaparece
- disse Noel. - A miséria fica dourada.
- O mau cheiro é da vida. Imagine um mundo absolutamente higiênico. Acabava aborrecendo. Não havia contrastes. Gente de mármore que não transpira...
Ficaram conversando à toa, até que Álvaro se levantou, deu três passos à retaguarda para contemplar a tela.
- Guarda, Vasco. Guarda, Noel.
O vento revolvia os cabelos do aventureiro. Sua gravata boêmia também agitava as asas, como uma borboleta negra. Ele estava sublime.
Os rapazes aproximaram-se, olharam a tela e depois se entreolharam num silêncio constrangido. Não acharam que dizer. A pintura era uma miséria. Mas Álvaro estava encantado na própria obra.
Voltaram para casa ao entardecer. Álvaro vinha loquaz. Os rapazes estavam abatidos.
Naquela noite Vasco saiu com o pai a caminhar pela cidade. Fazia frio e o céu estava estrelado.
O rapaz ia taciturno. O pai percebeu. Quando voltaram para casa, já tarde, Álvaro parou numa esquina, olhou o filho bem nos olhos e disse:
- Vasco, per que tu não vai embora com o teu babo? Per que? Tu é giovem... O mondo é belo, é largo... Olha o risco de giz do piru... Per que restare nesta miséria... Tu é moço... Que é que te prende? Quando Ia gente é moço non morre de fome, sempre vive bene... Xangai, Taiti, Napole, Norovega, dove nasceu tua vovó... Eh?
Naquela madrugada, sem poder dormir, Vasco ficou a olhar o céu, pensando no convite do pai. No fundo ele tinha razão. O mundo era largo. A vida guardava um tesouro de coisas belas para lhe oferecer. Bastava que ele tivesse a coragem de saltar por cima do risco de giz... Andaria à aventura, sem pouso certo, sem compromissos com ninguém ... Andaria de terra em terra, tendo uma surpresa de hora em hora, nunca sabendo o que lhe havia de trazer a manhã seguinte.
Mas era curioso... Ele se sentia preso à sua gente. E, indo bem fundo no seu sentimento, quem o prendia mais era Clarissa. Pouco lhe importava D. Clemência. Nada significavam agora para ele os que haviam ficado em Jacarecanga. Ele pensava sempre em Clarissa. Tinha pena dela. Pena... Mas seria só pena?
Vasco olhava para as estrelas como para lhes pedir conselho. Sentia na cara o gelo da noite. Seus dedos estavam duros. Silêncio no quarto. Silêncio na noite. Álvaro e Casanova dormiam.
No mundo, para Vasco, só existiam naquele instante a presença invisível de Clarissa, o convite perturbador de Álvaro, o frio da noite, a sua angústia e as estrelas, sempre tranquilas e remotas.
Logo à entrada de setembro Vasco teve uma grande decepção. Descobriram um dia que Delicardense tinha fugido depois de roubar o dinheiro que Clarissa guardava no seu cofre e mais alguns objetos da varanda.
- Bem a Zina me dizia que esse negrinho era coisa ruim - comentou D. Clemência.
Vasco relutava em acreditar. Esperou dois dias, três... Tinha esperança de que o negrinho aparecesse para desfazer as desconfianças. No quarto dia, desanimou.
Mais uma desilusão. Pensava que Delicardense fosse seu amigo. Tinha grandes projetos em relação a ele: ia pô-lo numa escola e depois encaminhá-lo num emprego. O diabo do preto era vivo, podia ainda vir a ser alguma coisa na vida. Agora todos os seus planos se iam água abaixo...
Ficou desolado, como se tivesse perdido o mais velho e querido dos amigos. E um dia em que ele se achava no pátio brincando com Casanova, Don Pablo apareceu no outro lado do muro para dizer:
- Mi intuición psicológica no me enganava. Aquel negrito hijo dei diablo tenia el tipo delincuente. .. Mire, amiguito, esa es una de Ias consecuencias dei abandono miserable, deplorable, abominable condenable en que vive Ia infância desvalida. El sistema político dei Brasil...
- Pablo! - gritou D. Mercedes, da janela da cozinha.
- Ya voy, preciosa. Pêro el sistema político dei Brasil es una aberración, amiguito. Una aberración.
- Pablo!
- Ya voy, preciosa. El anarco-sindicalismo es...
- O café está esfriando . ..
- Bueno. Hablaremos después. Hasta Ia vista!
Don Pablo desapareceu. Vasco ficou entregue a pensamentos amargos.
Aquele princípio de setembro lhe reservara outra má notícia. Um dia D. Zina apareceu em companhia do marido e, no meio duma conversa sobre antigos hóspedes da pensão, tio Couto, sacudindo a cabeça, enquanto enrolava um cigarro, murmurou:
- O pobre do conde, hein? Veja só, a gente às vezes quando menos espera...
- Que foi que houve? - perguntou Vasco.
- Então não leu? - Animado, porque ia contar uma novidade, tio Couto levantou-se. - Pois o conde tentou se matar. Então não sabiam?
Vasco sentiu um desfalecimento. Seu coração rompeu a bater acelerado.
- Mas quando? Por quê?
- Faz aí uns cinco dias. .. Uma injeção de morfina. Acendeu calmamente o cigarro.
- Morreu?
Tio Couto apagou o fósforo e sacudiu a cabeça.
- Não. Mas quase. Dormiu dois dias. - Soltou uma risada. - Esse conde é das arábias.
- Onde é que ele está? - perguntou Vasco.
- No hospital Alemão, se é que já não teve alta...
Vasco saiu. Precisava ir ver o conde. Gostava dele. E aquilo era incoerente, monstruoso, estúpido. Parecia o homem mais feliz, mais sereno e mais sensato do mundo. Quem o ouvisse falar diria que ele não tinha problemas. Encarava a vida com um cinismo, uma serenidade...
O dia estava claro e fresco, andava no ar a primeira mensagem perfumada da primavera. Mas Vasco se sentia deprimido. Que teria acontecido ao conde?
Foi ao Hospital Alemão. Estudou no caminho o que ia dizer. Precisava ter muito cuidado para não fazer uma de suas burradas.
Na portaria lhe disseram que era o quarto 118.
Subiu. Bateu.
- Pode entrar.
Entrou. Paredes e móveis muito brancos, reluzentes e limpos. O conde estava deitado. Vasco achou-o pálido e magro. Mas sorria.
- O meu jovem amigo . . . Olá! Vasco apertou-lhe a mão.
- Como vai?
- Oh! Estou muito bem. Sente . . . Vasco sentou-se.
- Então, já está trabalhando?
- Não.
- Too bad. Mas isso se arranja. Que novidades há pelo mundo?
- Tudo velho.
Silêncio. Vasco contemplava o amigo. Oskar estava penteado caprichosamente como sempre, barbeado e perfumado. O casaco do pijama era de seda cor de pérola. (O quarto de Anneliese.) Suas grandes mãos brancas de dedos longos descansavam em cima do lençol.
- Conde...
- Sim?...
Vasco hesitou. Mas depois despejou, com ar de quem quer dar a entender que ”Vamos deixar de fita, de cerimónias”.
- Mas que foi isso que me contaram, conde? Que foi? Você, um homem que parecia tão feliz ... tão...
O conde sorriu.
- Oh! Mas eu sou muito feliz... - Olhou pela janela para a paisagem: as casas da Floresta, o rio, a copa das árvores no jardim do hospital. - O que aconteceu não tem a menor significação... Foi um desses momentos perigosos ... De repente senti um vazio... um vazio cinzento, compreende? Vontade de dormir muito, muito... Voilal
Silêncio. Sempre falso, sempre fazendo blague - pensou Vasco.
- Sinto muito, conde. Oskar ergueu a mão.
- Oh! Non se fala... Passado, lenda... Era uma vez... As coisas só têm realidade quando eston acontecendo. No momento em que deslizam para o passado, passam a ser lendas... E ninguém mais dirá a verdade sobre elas... Amanhã nem eu mesmo contarei direito a minha história... É por isso que não vejo a menor diferença entre Andersen e Carlyle. A História e os contos das fadas são feitas do mesmo estofo...
Vasco não queria saber de filosofia nem de teorias. Queria a história do conde, o mistério daquele homem incompreensível. Procurou mil maneiras de arrancar-lhe o segredo. Por fim, desanimou.
Ao se despedir lembrou-se de alguma coisa.
- Olhe, conde, vou lhe mandar o Don Quixote. Talvez lhe sirva agora...
O rosto do conde ficou sombrio por um instante. Mas depois se desanuviou.
- Eu não confundi moinhos com gigantes, meu jovem amigo... Vi sempre que eram moinhos... Mas investi... Oh! A, gente cansa às vezes de ser expéctadór. Precisa ser atór também.
Vasco seguiu por um longo corredor. Vinha triste como se se tivesse despedido para sempre dum amigo que ia morrer.
Foi por entre as árvores do jardim do hospital que notou que a primavera estava chegando.
De repente sentiu com uma agudeza quase dolorosa, o milagre de estar ainda vivo. O milagre de estar respirando aquele ar que cheirava a flor. O milagre de ter ainda vinte e dois anos, apesar do inverno, apesar de toda a amargura, de todo o mistério, de toda a incoerência da vida.
Não obstante toda a trabalheira da casa e os cuidados com Anabela; apesar de ter de estar constantemente servindo de pára-choque entre a mãe e o marido e entre Ernestides e o resto do pessoal, Fernanda ainda encontrava tempo para pensar no livro de Noel. Agora precisavam tratar o quanto antes da publicação. Se o livro ficasse no fundo da gaveta, Noel não teria estímulo, não escreveria mais. O problema era o editor...
Noel já se enervava por ver o livro parado. A todo o momento estava fazendo retoques. E a cada releitura achava o romance sensaborão e malfeito. Sofria. Antes nunca tivesse pensado em escrevê-lo!
Fernanda pediu a Vasco que fizesse uma capa para o livro. Vasco desenhou-a num dia de amargura. Esboçou no primeiro plano um homem magro e abatido, com a gola do casaco erguida. O seu rosto contava que ele sofria. Parecia estar concentrada em sua fisionomia a angústia de todos os milhões de desempregados que andavam pelo mundo. O fundo era uma mistura de casas e nuvens e gentes, em tons cinzentos.
Quando Vasco mostrou a capa, Fernanda e Noel se entreolharam surpreendidos.
- Mas... está do outro mundo! - fez Fernanda, sinceramente entusiasmada.
Noel não encontrava palavras.
Deixei lugar pra desenhar depois o título - disse Vasco. - Agora tenho outra ideia. Vamos ver se vocês gostam.
- Qual é?
- Quem me sugeriu a coisa foi o Casanova... Nós estávamos no pátio. Fazia um frio danado e a sombra do muro ia se espichando. Havia um resto de sol num canto. O Casanova sacudindo o rabo foi se afastando de mim e procurando o último solzinho... Mas não é isso mesmo a vida da gente? A luta por um lugarzinho ao sol? Botem lá o título ”Um Lugar ao Sol”. Que tal?
Fernanda estendeu-lhe a mão.
- Aperte. Você venceu . . . Que dizes, Noel?
- Serve. Eu gosto. E o título ficou.
Na semana seguinte Fernanda meteu na pasta os originais do romance e a capa que Vasco desenhara e saiu sem dizer a ninguém aonde ia. Foi à maior casa editora da cidade. E quando se viu no escritório do diretor, começou a sentir uma impressão que não sentia desde os tempos da escola. É a expectativa ansiosa do exame. Aquele vago medo da banca examinadora, do julgamento alheio
- o temor do fracasso.
O editor era um homem amável. Fernanda foi direito ao assunto. Queria editar um romance. Não era dela...
O editor sorriu. Conhecia aquele golpe. O romance era da moça mas ela não queria confessar, temendo uma recusa. Mas continuou sorrindo, fingindo que acreditava.
Examinou os originais, o título... Mordeu o lábio. Folheou o romance. Pensou um instante e disse, coçando a cabeça.
- É o diabo... Escritor novo, nome desconhecido. Pode ser um colosso, um Stefan Zweig, um Chesterton, mas é que o público não sabe disso... É, a senhora vai desculpar, não podemos editar por nossa conta...
Fernanda já esperava a resposta. Estava preparada.
- E se eu quiser pagar... quanto custa a edição?
- Quantos exemplares?
- Uns mil...
O editor viu o número de páginas, pensou um instante e disse:
- Se não passar muito de duzentas páginas, vai custar ai uns dois contos... dois contos e pouco...
- Condições de pagamento? ... O editor coçou a cabeça.
- bom. Para lhe mostrar a minha boa vontade, a senhora paga como puder. Em prestações... Faça a proposta, como melhor lhe convier.
Fernanda pensou um instante.
- Dou-lhe um conto à vista. O resto em prestações de cem mil-réis. Serve?
- Serve. Está muito bem.
- Agora, tenho uma condição importante. Confio no senhor. O livro é de meu marido. Se ele ou qualquer outra pessoa lhe perguntar, diga que está sendo editado por conta da sua empresa. Está certo?
O editor encolheu os ombros. Não punha nenhuma objeção.
- Está certo.
- Então ficam os originais.
- Perfeitamente.
- A capa é esta.
O editor examinou o desenho com admiração.
- Donde foi que tirou este desenho?
- Um amigo nosso fez.
- Um amigo? Então isto foi feito aqui? - Fernanda sacudiu a cabeça. - Aqui em Porto Alegre? Mas quem é o desenhista? Está formidável. É o meu problema. Não encontro quem me faça capas que prestem. É uma luta. Mas quem é?
Fernanda arregalou os olhos, ergueu-se com vivacidade, encarou o interlocutor.
- O senhor vai empregar este moço.
- Mas...
- O senhor vai ter o melhor desenhista da cidade. Quanto paga?
O editor tornou a coçar a cabeça.
- Se ele for bom em todos os desenhos como foi neste, se ele tiver vontade de trabalhar... eu lhe garanto que ele pode tirar por mês aí uns oitocentos ou quem sabe se até um conto de réis por mês.
Fernanda ficou alvoroçada. Tinha conseguido um emprego para Vasco. Ia editar o livro de Noel! Estava feliz. Teve vontade de abraçar o editor. Foi com esforço que dominou a comoção.
- Pois está bem - disse. - Eu lhe trago amanhã de manhã o desenhista.
Despediu-se estabanadamente.
Ganhou a rua. Contente, contente! Sentia vontade de chorar e cantar ao mesmo tempo. Noel teria o seu livro impresso. Vasco encontrara emprego. Um conto de réis à vista... Dariam o dinheiro de Anabela. Que importava? Era um empréstimo. Um jogo. Quando estivesse em idade de compreender, Anabela se sentiria feliz por ter podido ajudar daquele modo a carreira do pai. Sim. Gastariam o dinheiro da menina. E ela, Fernanda, faria economias para pagar todos os meses a prestação.
A despeito de todos os seus esforços Fernanda não pôde evitar as lágrimas. Chegou a casa com os olhos úmidos, parodiando João Ventura no final do romance de Noel.
Clarissa escreveu no seu diário:
”Eu sabia que tudo havia de melhorar. Meu Deus, como eu Te agradeço! O Vasco arranjou emprego, graças à Fernanda. Como ele está contente! Ontem chegou em casa cantando, abraçou a mamãe e disse: ’De hoje em diante quem paga todas as despesas sou eu!’ Como ele mudou, como ficou diferente! Agora já conversa comigo, já ri. E eu estou feliz também porque a primavera chegou. Sempre tive confiança na primavera. Quando ela vem, tudo melhora. Também a gente merece um pouquinho de felicidade e seria uma injustiça se Vasco continuasse desempregado.
Quando vou para Canoas vejo os jardins floridos, as casas mais alegres, de janelas abertas e os campos e as árvores estão com um verde mais bonito.
Meu Deus, como eu Te agradeço e como estou contente por ter tido confiança em Ti!”
Clarissa fechou o diário. Anoitecia. Vasco chegava do trabalho. Entrou cantando.
- Alo, Clarissa! E ela se sentiu feliz como nunca.
Vasco tirou o casaco. O pai estava sentado à janela, fumando melancolicamente o seu cachimbo.
- Como vai, papai? Álvaro encolheu os ombros.
- Um pouco malincônico.
- Por quê?
- La primavera. Io me lembro da primavera em Capri, na Sicilia, em Napole. Vita dum cane!
Vasco meteu-se no chuveiro. Estava frio. E ele bufava, cantava, batia com os pés no chão.
À hora do jantar todos se reuniram em torno da mesa. Casanova rosnava ao redor deles, sacudindo o rabo, erguendo a cabeça, pedindo...
Vasco dava as suas impressões.
- Estou achando formidável - dizia, mastigando muito apressado. - É um lugar descansado onde a gente trabalha e ninguém mete o bedelho. Fiz um cartaz. - Abriu os grandes braços. - Deste tamanho. Cinco cores. Uma chapada vermelha no fundo.
Clarissa contemplava-o com admiração. O velho Álvaro sacudia a cabeça melancolicamente.
- O trabalho ... o trabalho ... - murmurava.
- Me passa o feijão, Clarissa . . . Gracias! . . . Mas papai, estou aprendendo a fazer desenho no próprio zinco . . .
- Cosa é?
- Desenho com creiom litográfico... Interessantíssimo, imagine...
Calou-se para comer. Álvaro continuava a sacudir a cabeça:
- Ma Vasco, um vero artista non prostitue Ia sua arte. Deve guardare fidelitá eterna. Disenhare em zinco. Cristo! Mas isso é mercantilismo, non é arte.
Vasco sentia renascer a antiga confiança em si mesmo. Fazia planos. A vida havia de melhorar para todos. A primavera o deixava excitado.
Nas noites ainda frias de ventos malucos e que cheiravam a flor, ele andava sozinho pelas ruas. Lembrava-se das antigas primaveras do casarão, das correrias da infância. E - era esquisito - sentia saudade... mas nenhuma vontade de ”voltar”. Lembrava-se também de Anneliese e um dia foi até os Moinhos de Vento olhar a casa dela. Uma tolice... Uma coisa inexplicável... Ficou espiando pelas grades o palacete que dormia no fimdo do parque. Lembrou-se das madrugadas em que ele saía de lá, feliz e inquieto. Mas o parque silencioso de sombras verdes e frescas não lhe falava mais à sensibilidade. E ele viu que Anneliese era apenas uma lembrança pálida, um longínquo fantasma. O que havia ainda nele era apenas e puramente a necessidade de amar.
E meio tonto ainda da felicidade que lhe dava a volta da primavera e o fato de ter um emprego - ele percorria as ruas, burlequeava pelos subúrbios, passeava pela beira do rio e não sabia que fazer consigo mesmo, com seus pensamentos, com seu contentamento e também com aquelas recordações turbulentas.
De manhã bem cedo saía com Clarissa, levava-a até o ponto onde ela tomava o ônibus para Canoas. Iam relembrando coisas do passado. Do tempo em que ela era a ”Princesa do Figo Bichado” e ele o ”Gato-do-Mato” truculento e orgulhoso. Riam. Olhavam os jacarandás floridos da praça. Despediam-se com um aperto de mão. Clarissa tomava o ônibus. Vasco entrava no primeiro bonde e ia para a casa onde trabalhava, e ficava-se horas a lidar com tintas, a desenhar, a fazer croquis e planos.
Como ele era grato a Fernanda por lhe ter proporcionado aquela oportunidade! com dinheiro do primeiro ordenado comprou-lhe uma lembrança, um quebra-luz de cem mil-réis. E quando à noite lhe foi levar o presente à casa de baixo, ficou muito confuso e vermelho. Porque, desfazendo o pacote e vendo o fino quebra-luz de seda branco com um bojo negro e luzidio, Fernanda juntou as mãos e disse:
- Mas você está maluco, rapaz! Botando dinheiro fora! - Mostrou a casa. - Não vê? Isto aqui na minha sala é o mesmo que um pregador de pérola na gravata dum mendigo... se mendigo tivesse gravata. - Vendo a confusão de Vasco, emendou. - Qual! Mas eu estou brincando. Gosto muito do presente. Muito obrigada!
E naquela mesma noite, ao se despedir de Vasco, disselhe a meia voz:
- Eu só queria saber como é que você sendo cego pode desenhar...
- Cego, eu? - estranhou ele. - Como?
- Cego de nascença. Tão cego que não enxerga o que se passa tão perto de seus olhos...
Vasco começou a ficar perturbado. Olhou fixamente para Fernanda, ansiado. Ela falou claro:
- Mas homem de Deus! Você então não compreende ainda que a sua prima está, sempre esteve e estará apaixonada por você? Que cegueira!
Vasco gaguejou alguma coisa. Recuou para a sombra do corredor para esconder a sua confusão. Seria possível?
- A minha prima?
- Sim senhor. Não sabe quem é a sua prima?
Vasco subiu... Abriu a porta devagarinho. Clarissa estava junto da mesa, corrigindo os cadernos de temas de seus alunos. O rapaz atravessou a sala sem ruído. Ela ergueu os olhos e sorriu. Ele sorriu também, sentou-se do outro lado da mesa e ficou olhando a prima em silêncio. Queria dizer alguma coisa mas não achava. Olhava apenas... E sob o olhar insistente do rapaz, Clarissa começou a ficar vermelha... Vasco percebeu tudo e levantou-se discretamente.
Naquela noite o sono só lhe veio muito tarde.
Ficou na cama pensando em coisas... Seria possível que Clarissa gostasse dele?
Naquele dia chamaram o Dr. Seixas e o Rev. Bell. D. Magnólia estava excitada e Orozimbo se sentia muito mal. Lu tinha ameaçado de fugir com Olívio. E dissera na cara da mãe, com seus olhos verdes fuzilando:
- Eu tenho raiva de ti! Raiva!
O Rev. Bell chegou primeiro. Chorando, D. Magnólia lhe contou o que acontecera. Estavam aflitos porque a menina não voltara ainda do colégio.
Orozimbo gemia baixinho. E quando o pastor se aproximou dele, o doente lhe perguntou quase chorando:
- Reverendo, por que é que Deus me faz sofrer assim? Por que é?
Perturbado o Rev. Bell ergueu o corpo enorme na ponta dos pés, balançou-se duas ou três vezes e depois gaguejou uma explicação teológica.
O Dr. Seixas chegou, barulhento e mal-humorado. Surpreendendo o pastor no meio da dissertação, rosnou:
- Não adianta, padre. A minha morfina resolve isso mais depressa que as suas rezas.
Aplicou uma injeção no doente. Dentro de alguns minutos Orozimbo estava mais calmo.
O médico ouviu a história de Lu em silêncio.
- Aconteceu alguma coisa. São duas horas e Lu não che’ou... Aconteceu alguma coisa.
- Aconteceu nada! - rosnou o Dr. Seixas. - Que é que podia acontecer?
com voz trêmula D. Mag contou:
- Ela disse, ê ia fugir.
O médico coçou a barba, irritado.
- Me dê o fogo, padre. Deixe. Tenho aqui. Acendeu um cigarro, deu duas tragadas e depois:
- Não adianta ficar assim agitada, D. Mag. Mais tarde ou mais cedo essa menina vai embora com o namorado... Ninguém ataca.
- Oh! É horrível! - exclamou o reverendo.
- Não sei se é horrível. É da vida. Que é que vocês querem? O mundo mudou. A mocidade de hoje não acredita mais nos preconceitos antigos.
- Oooh!
O doutor sentou-se, calmo.
- Olhe, padre. E nós somos os culpados, nós os mais velhos. Fazemos guerras, loucuras, não temos juízo no miolo, estragamos o mundo e os moços que vêm atrás de nós é que sofrem. Que culpa têm eles? Por que é que fizemos a Grande Guerra? Que foi que o mundo lucrou? Lucrou isso: toda essa pobre rapaziada hoje não sabe a quantas anda. Nós os velhos malucos, viciados e egoístas é que temos a culpa...
O Rev. Bell ainda mesmo na sua confusão indignada achava lugar para ter piedade daquele velho pecador que estava condenado às chamas do inferno. Que Deus se compadecesse de sua alma!
- Mas é preciso fazer aTuma ’oisa! - insistia D. Magnólia. - Já telefonei para a Es’ola. Lu saiu ’om as outras.
O Dr. Seixas fumava, sombrio.
- Não adianta... não adianta... não adianta... Hoje, amanhã, depois... mais tarde ou mais cedo ela vai embora. Tem dezessete anos. Os moços não compreendem os velhos. Os velhos não compreendem os moços. É a vida. Já disse: nós somos os culpados... Não se iludam...
Fechou a bolsa. Olhou para Orozimbo. Viu-lhe a cara ossuda esverdinhada e lívida, imagem do apodrecimento interior. Talvez o mísero não chegasse a ver a outra primavera.
O doutor encolheu os ombros.
Naquele momento ouviram o ruído dos freios dum automóvel que parava à frente da casa. D. Magnólia correu para a janela. Lu descia de um auto de aluguel e despedia-se de Olívio, sorrindo feliz. Ele estava pálido, emagrecido, de olheiras fundas.
- Lu! - gritou a mãe, E o seu grito dizia da sua suspeita, e da dor que essa suspeita causava.
O automóvel arrancou. Lu entrou correndo. Abriu a porta.
- Boa tarde - disse com calma. E caminhou calada para o quarto.
Todos os olhos, menos os do doente, a seguiram.
O pastor e D. Magnólia se entreolharam.
O doutor entrou no quarto de Lu. Segurou a menina pelos braços e olhou-a bem no rosto. Lu sorriu. com o toco de cigarro colado ao lábio inferior, o doutor olhava firme para aqueles olhos dum verde fresco e vítreo. Depois sorriu e largou-a. Voltou para a sala.
- Não houve nada. Boto a mão no fogo por ela. Enterrou o chapéu na cabeça e encaminhou-se para a
porta. Voltou-se antes de sair.
- Não tem jeito, D. Mag. Nós somos os culpados, reverendo. Não se iludam. Não culpem a menina.
Disse isto e se foi.
Pessegueiros floridos! Vento perfumado! Aquele arrepio no ar que cheirava a pólen e seiva. Amaro acordou muito cedo e sentiu uma saudade enorme de Clarissa. Vestiu-se às pressas, alvorotado, e foi até a praça onde costumava antigamente ir esperá-la todas as manhãs.
Viu-a fresca e corada e teve a intuição de que ela agora estava mais feliz. Mas como a achou distante...
Voltou para casa, melancólico.
As árvores e os jardins refloriam. Já não restava o mais leve vestígio do inverno cinzento. O céu era dum azul novo e parelho.
Só para ele não havia mais primavera. Sentia-se como que envenenado.
O mais horrível tinha acontecido. As suas revoltas agora eram mais raras e fracas. Viera essa coisa profunda e invencível: o hábito. Era incrível, era abominável: mas ele acharia falta de Doce se se separasse dela. Falta do seu calor. Falta do seu cheiro (que, não obstante, continuava a aborrecer). Falta dos seus bifes. E daquele seu amor abundante, derramado, pegajoso, ao qual agora se entregava todo. E para essa rendição muito contribuía a ideia de que ele também envelhecia, de que tinha um mau físico, uma vida opaca.
Amaro caminhava, pensando num canário que tinha numa gaiola, quando menino. Um dia ficou com pena do passarinho e soltou-o. O canário saiu a voar e a cantar pelo jardim. Fez meia dúzia de evoluções no ar e depois voltou para a gaiola e ficou no seu poleiro, trinando, encolhidinho, esperando a hora do alpiste. Assim era a vida dele agora. Docelina tinha construído uma enorme gaiola com uma cama quente, pijamas de lã, bifes suculentos, pão farto com manteiga. Não havia mais aquela coisa cacete que era o banco, o horário, a necessidade de prestar atenção a um trabalho aborrecido. Agora ficava de barriga para o ar, pensando nos seus poetas, ouvindo mentalmente suas músicas. Era suja mas boa a gaiola que Doce lhe armara. Se ela o soltasse, ele ficaria tonto como o canário belga num mundo perigoso de gatos e cachorros famintos. Acabaria voltando para a gaiola, para o alpiste, para o poleiro. Se ao menos ele fosse colorido e cantador como o canário belga! Se ao menos pudesse aproveitar aquela miséria moral para compor um grande poema sinfônico que mais tarde lhe desse nome... Mas qual! Ele ouvia uma harmonia interior maravilhosa. Quando ia dar-lhe forma gráfica, ela fugia. Era inútil.
No entanto a vida era bela e a primavera ali estava. Lembrou-se dos pessegueiros floridos da pensão de D. Zina e de Clarissa, descalça e menina, brincando no meio dum chuveiro de flores cor-de-rosa que lhe coroavam a cabeça, caiam pelo rosto, pelos ombros, escorregavam pelos seios que mal apontavam... Seios... Amaro lembrou-se dos seios monumentais de Doce.
Seguiu de cabeça baixa, olhando para a sua sombra triste na calçada.
Álvaro Bruno andava inquieto. O pátio da casa estava impregnado da doce fragrância das glicínias, junquilhos e flores de laranjeira. Álvaro Bruno pintava, cantarolando tarantelas e canções napolitanas, blasfemando e, de quando em vez, jogando longe palheta, tela e pincel para sair a caminhar sem destino certo.
A primavera parecia deixar toda a gente excitada.
Don Pablo, no meio do pátio, trepado num caixão de gasolina, fazia inflamados discursos políticos. Desafiava o alto pé de eucalipto que se erguia do outro lado do muro.
- Exploradores miserables! - gritava, batendo com o pé na marca da companhia petrolífera pintada no caixão.
- Polvos dei capitalismo internacional, dei sucio y miserable dinero sin pátria. Vereis! Vereis! Vereis!
Enquanto falava, D. Mercedes trabalhava ao calor do fogão, fazendo os seus doces. Sorria, ouvindo a voz do marido, o seu Pablo que ela tanto admirava e que ainda havia de fazer grandes coisas. Precisava apenas de uma oportunidade. Era mais inteligente e instruído do que muitos dos figurões que faziam discursos em praça pública. Que importava que os outros pensassem que ele era um vagabundo? Que importava que dissessem que ele vivia à custa dela?
Uma manhã, ao chegar do trabalho Vasco viu de sua janela um quadro que o divertiu. Don Pablo sentado no muro, olhando para um ponto indefinível, muito firme e solene. No outro pátio, sentado num balde de boca voltada para o chão - Álvaro olhava de quando em quando para o espanhol, enquanto rabiscava com carvão numa tela. Vasco desatou a rir. Os dois homens olharam para ele com ar de censura. E o espanhol, muito sério, gritou:
- Seu papá está haciendo mi retrato. Verdad, Don Álvaro?
Vasco desceu para olhar a tela. Havia no retrato uma vaga parecença com o original.
- Vai ser a óleo? - perguntou Vasco.
- Seguro - respondeu Álvaro, sem tirar o cachimbo da boca. Na manhã seguinte Don Pablo posou ainda para Álvaro. Mas no terceiro dia o pintor não apareceu. Chegou a noite e Vasco começou a ficar inquieto.
Teria acontecido alguma coisa ao velho?
Amanheceu um novo dia e Álvaro continuava ausente. Foi então que Vasco se lembrou de olhar debaixo da cama. O baú de folha havia desaparecido.
Clarissa veio correndo, alvorotada.
- Vasco! Venha ver!
Puxou-o pela manga, arrastando-o para a cozinha.
Mostrou a parede caiada. Havia nela uma frase escrita a carvão.
ADDIO SOM UN VELHO
PAZZO (MALUCO)
Vasco sentou-se pesadamente numa cadeira. O velho tinha ido embora! Agora que já estava habituado à sua companhia, agora que já o estimava. Fugira como Delicardense... Para onde? Até quando?
- Casanova! - gritou Vasco. Assobiou, aflito.
O cachorro apareceu sacudindo o rabo e saltou-lhe para o colo. Vasco sorriu, afagando a cabeça do animal.
- Clemência desceu às pressas e foi contar a D. Eudóxia a grande novidade.
- Eu bem que vi ele levando o baú - confessou, gloriosa. - Vi e fiquei quieta. Bons ventos o levem!
- Eudóxia falou soturna:
- Não dura muito. Toma uma bebedeira e cai no rio. E as mulheres passaram para a outra sala porque Pedrinho e Ernestides estavam atracados aos beijos em cima do sofá.
Chamaram o Dr. Seixas porque Ernestides andava indisposta, enjoada e cheia de tonturas. O médico entrou irritado. Tinha recebido do banco naquele dia uma nota avisando-o do vencimento da segunda prorrogação duma promissória firmada por ele. Onde ia arranjar dinheiro? Clientela pobre. Vida difícil.
Depois de examinar Ernestides, gritou:
- Está grávida! Não é de admirar. Hoje tudo anda a grande velocidade...
- Eudóxia sentiu um choque. Ernestides ficou entre assustada e alegre. Ia avisar a mãe pelo telefone... Ia telefonar também para o Pedrinho...
Fernanda pensou então no sexto filho. O Dr. Seixas leu-lhe os pensamentos. Levou-a para o corredor, bateu-lhe no ombro.
- Sinto muito, menina. Mais uma estopada, hein? Você merecia uma vida melhor. Por falar nisso, como vai a Anabela? Bem? Você continua dando leite de peito? bom. Mas é o diabo... Então o safado do Pedrinho vai ser pai? Este mundo está mesmo de pernas pró ar... Diabo, eu sempre me esqueço dos fósforos.
Mas achou ainda dois paus na caixa. Acendeu o cigarro. Fernanda sorria.
- Como vai o vizinho? - perguntou.
- O Zimbo? Aaah! Naquela casa todos estão mortos e não sabem. O reverendo é outro cadáver. Ali só se salva a Lu. Não há remédio... Estão mortos. bom. Leite de peito sempre. E você tome bastante sopa, líquido, ouviu? Até amanhã.
Saiu pela rua a fazer reflexões amargas.
Tinha pena de toda aquela gente moça e tonta. Conhecia a vida de todos. Que seriam eles amanhã? Talvez velhos tristes e amargurados como os de hoje. Tinham culpa? Não tinham. Eram vítimas dos erros de todos os que haviam chegado ao mundo antes deles. Os culpados formavam uma cadeia sem fim que decerto ia terminar em Adão...
Adão nada! Este cigarro não me pára aceso...
Riscou o último fósforo.
Não lhe saía da cabeça aquele pensamento... Pobres crianças! Sabia que o pai de Clarissa tinha sido morto pelo capanga dum político. Estava agora a menina ali atirada naquela casa úmida e sem conforto, em companhia da mãe e daquele outro cabeça de vento. O pai de Fernanda também fora assassinado. Outro crime político. Era o Rio Grande dos coronelões, dos capangas, dos caudilhos, do contrabando, das revoluções e da coragem que envelhecia. E no fim, que ficava? Uma geração que envelhecia antes do tempo. Fernanda aos dezesseis anos virara ”chefe de família”. Os rapazes caíam no mundo sem a menor preparação, sem nenhuma experiência... Casavam-se antes do tempo. Sem posição sólida. Às cegas, como tudo o que faziam.
E vinham filhos. Filhos! Ratos! Novas criaturas para sofrerem, crescerem às tontas, viverem desnorteadas, casarem e terem por sua vez mais filhos e sempre mais filhos! Ficavam depois vivendo numa quase promiscuidade, apertados, em más casas, com pouco dinheiro, sem higiene, sem beleza, sem nada...
O Dr. Seixas jogou longe o cigarro.
Tudo era por causa daquele maldito aviso de vencimento. As letras o deixavam amargo e pessimista.
Continuava a caminhar. Mas ia distraído, perdido em suas cogitações...
Lembrava-se da mocidade remota. Sua vida fora torta desde o princípio. Formara-se em Medicina com sacrifício. Contraíra dívidas. E nunca mais se libertara dos bancos e agiotas. Quando morresse deixaria ainda dívidas para os parentes pagarem...
Botou na boca outro cigarro. Não tinha fósforos. Atacou o primeiro homem.
- Moço, me dê o fogo.
O outro deu. O Dr. Seixas chupou o cigarro.
- Obrigado.
Continuou a andar. Lembrava-se do esforço comovente que Fernanda fazia para dar sangue novo ao marido. Recordou o drama de Noel com a mãe. Aí estava: a mãe também não tinha culpa de ser como era. Defeito de educação, menina criada com mimos. Não tinha nascido para ser mãe de ninguém. Fora simplesmente empurrada para o casamento. O marido era um maria-mole.
Positivamente, o mundo estava maluco. Os jornais falavam em guerras, desastres, divórcios, desfalques, crimes. .. Era da máquina! Século da eletricidade! Idade da ciência! Qual nada! Estava-se em pleno reino da maluquice, do desnorteamento...
Oh! Mas ele tinha pena dos moços. A gente via que eles iam caminhando para o precipício e não podia salválos...
Diabos, apagou-se outra vez o maldito cigarro. Estas palhas ordinárias...
Entrou num café. Pediu fósforos. Atirou uma moeda de duzentos réis em cima do balcão, apanhou a caixa que o empregado lhe dava e saiu apressado, pois agora se lembrava ...
Tinha de ir atender uma mulher na Colónia Africana. Parto. Filhos. Ratos!
Riscou um fósforo com raiva.
Vasco desceu a escada de três em três degraus. Sentia a volta da fúria. Ganhou a rua e saiu a caminhar sem destino.
O vento maluco da primavera avivava o fogo frio das estrelas, bolia nas folhas verdes das árvores, dava arrepios na pele da gente...
Outra vez a impressão de estar no ar, de ter asas. O fogo no peito. O formigamento. A ânsia sem nome.
Ia tonto. O que acabava de acontecer enchia-o duma alegria selvagem, dum alvoroto sufocante. E, caminhando, ruminava aquele minuto glorioso, revelador, definitivo.
Foi na sala. A luz apagada. Clarissa ao pé da janela. O seu perfil recortado contra o céu violeta da noite. O luar a riscar-lhe na cabeça um contorno de prata luminescente. Ele chegou, viu e ficou ferido por aquela beleza. E surpreendido por ter passado tanto tempo sem olhos para ela. Teve medo de fazer um gesto, dizer uma palavra. Podia quebrar o encantamento, afugentar a visão. Manteve-se imóvel e calado na sombra, como um ladrão à espreita. Teve entretanto, intuição de que Clarissa havia dado pela sua presença. No entanto continuava parada, como que fascinada pela rua. Na zona luminosa que o luar pintava no chão da sala, projetava-se num desenho nítido a sombra dela. Então ele caminhou para a prima. Quis dizer-lhe uma palavra leve, para não magoar aquele instante. Mas continuou calado. O silêncio os envolvia como um sortilégio. Veio um momento de tontura... Os dois quedaram-se imóveis, numa contemplação mútua e comovida, imóveis até aquele momento em que ele a abraçou com ternura, beijando-lhe os olhos, a testa, os cabelos. Depois foi o paraíso.
O calor daquela presença doce e amiga. Abraçados em silêncio. As duas sombras confundidas na zona de luar, no chão. A respiração macia e fresca de Clarissa. O perfume de seus cabelos. E, de repente, aquela impressão esquisita de que estavam sendo espiados, a consciência duma presença estranha. Desprenderam-se. Olharam. com a cabeça erguida e torta, os olhos vidrados a brilhar, Casanova os contemplava...
A fúria, a fúria, a fúria... Vasco acelerava o passo. Mas para onde ia? Não importava o rumo. Ia...
As sombras das árvores escureciam a calçada. Janelas iluminadas. Um vulto de mulher por trás duma vidraça. Um jardim, os olhos dum gato, fosforescentes na sombra. Um muro com um letreiro. E os ruídos de seus próprios passos a segui-lo como um companheiro invisível.
E o vento...
Mas era o vento ou seriam vozes de fantasmas?
O ódio é a coisa mais sublime do mundo. - Gervásio cuspiu para as estrelas, os barcos dormindo à beira do cais, o cadáver ao pé da escada, com a cara retorcida. - Moinhos ! Moinhos! - O conde ajeitou o monóculo, deu uma nota de cinquenta ao garçon, lavou as mãos e sorriu com tristeza da cama do hospital. - O mundo é uma droga! - E o vento apagou o cigarro do Dr. Seixas, revolveu-lhe as barbas, jogou-lhe cinza na gola do casaco. Noel sacudiu a cabeça triste: Nenhum de nós tem coragem. Você não segue o seu desejo de fugir. Eu não tenho ... - E o sol inundava o rio, o céu, o vento enfunava a vela do cutter e Anneliese de maio verde contra a vela, berrando: Mein selvagem! Ma salta o risco de giz, non seja come o piru, Vasco. O vento, sempre o vento levando para longe, para o mar, para Xangai, para Taiti, a fumaça do cachimbo de Álvaro^ voz cantante de Álvaro...
Num instante mágico Vasco ouviu as vozes perdidas, viu os fantasmas dos ausentes. Era como se eles o acompanhassem rua abaixo, como se fizessem parte também da fúria.
Chegou à beira do rio. Lá longe passava uma lancha a gasolina, lanterna verde na proa, o motor pulsando como um enorme coração medroso - tôc-tôc-tôc-tôc. Luzes nas ilhas. Barcaças. Mastros. Estrelas por entre os mastros.
Mas a fúria não permitiu que ele ficasse parado contemplando o luar no rio.
Continuou a andar. Lembrou-se da sua noite de Jacarecanga, da sua fuga desordenada, enquanto velavam o cadáver de João de Deus.
Ah! Mas agora não havia pavor na sua alma. Ele era feliz, descomunalmente feliz. Ali estava a primavera. E Clarissa o amava. Haviam de caminhar de braços dados, de lutar lado a lado. E a voz de Fernanda lhe falou no vento: ”devemos nos ajudar uns aos outros, como burros que sobem uma lomba, puxando uma carga pesada”. Sim. Como burros. Mas no alto da lomba podiam encontrar o sol...
Por cima dum muro caiado, uma laranjeira espiava. Florida. Sim, haviam de casar-se, seria maravilhoso. No alto da lomba estava o sol.
O sol?
Mas João de Deus falou na voz do vento: Ruim como o pai. Casa, mas amanhã abandona a mulher, vai-se embora. É o sangue, o maldito sangue do Álvaro.
Vasco enfiou as mãos nos bolsos e começou a assobiar.
Salta o risco de giz, filho mio, non seja come o piru! Álvaro convidava-o para a fuga, -para a viagem. Mas Clarissa aparecia silenciosa contra o fundo da noite, toda debruada de luar.
Na sua tontura (era o vento perfumado da primavera que o embriagava assim) Vasco se imaginou ao lado dela, numa varanda tranquila, lâmpada, acesa, a calma familiar, D. Clemência bordando, a noite clara lá fora, o silêncio morno. Salta o risco de giz, non seja come o piru! E de repente a fumaça do cachimbo de Álvaro encheu o ar, era como os nevoeiros que assombravam os mares da aventura. E ele sentiu a fúria, ergueu-se de repente, saiu para fora, para respirar, para andar sem destino, para olhar o céu e sentir-se livre...
Acendeu um cigarro. Suas mãos tremiam.
Mas que importava o que pudesse acontecer amanhã? Era melhor nunca saber. Seguir ao acaso, como os barcos antigos, sem bússola nem porto certo, guiados apenas pelas estrelas...
E Vasco se sentiu como um veleiro tonto e só.
Só?
A poucos passos atrás dele, troteando macio e erguendo para a lua o toco de rabo, seguia o amigo, como um anjo da guarda.
Érico Veríssimo
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















