



Biblio "SEBO"




Capítulo 16
Com O AUSCULTADOR ENCOSTADO AO OUVIDO, VALERIE DUFFY OUVIU O telefone tocar várias vezes. "Atende, atende, atende", murmurou, mas o toque continuava. Embora não quisesse desligar, foi por fim obrigada a fazê-lo. Momentos depois convenceu-se de que tinha marcado mal o número e recomeçou. A ligação fez-se, o toque recomeçou. O resultado foi o mesmo.
Lá fora, via a polícia continuar a busca. Tinham passado tudo a pente fino na casa grande e estavam agora nos anexos e nos jardins. Valerie calculou que, em breve, poderiam decidir-se a revistar a sua casa. Fazia parte de Lê Reposoir e, segundo o sargento encarregado, "Temos ordens para fazer uma busca minuciosa de tudo, minha senhora."
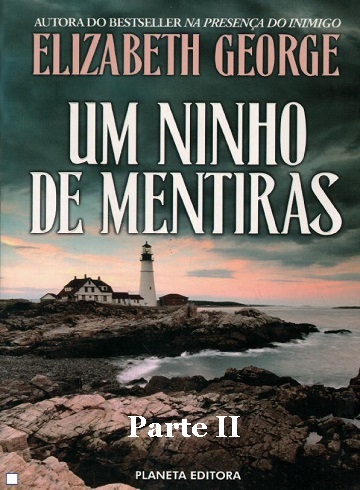
Não queria saber o que procuravam, mas fazia idéia. Um agente descera a escada com os medicamentos de Ruth num saco de provas e só depois de ter feito valer junto dele a importância crucial desses medicamentos para a saúde de Ruth, é que Valerie os tinha conseguido convencer a não levarem todos os comprimidos de dentro de casa. Certamente não precisariam de todos, argumentara. Miss Brouard tinha dores terríveis e, sem os medicamentos...
Dores? perguntou o agente. Então temos aqui analgésicos? E abanou o saco para acentuar a pergunta, como se fosse necessário.
Certamente. Bastar-lhes-ia lerem os rótulos onde estavam escritas as palavras "para as dores" que certamente teriam visto quando retiraram os medicamentos de dentro do armário.
"Temos as nossas instruções, minha senhora", foram as palavras que o agente usou como resposta. E com essa declaração Valerie partiu do princípio que tinham retirado todos os medicamentos qualquer que fosse a sua natureza.
Perguntou-lhes se podiam deixar parte dos comprimidos. Tirem uma amostra de cada frasco e deixem o resto, sugeriu. De certeza que o podem fazer para bem de Miss Brouard. Ela iria passar muito mal sem eles.
O agente concordou mas não ficou satisfeito. Quando Valerie o deixou para regressar ao seu trabalho na cozinha, sentiu os olhos dele na nuca e entendeu que se transformara num objecto de suspeita. Por isso não quis fazer o telefonema da casa grande. Dirigiu-se a sua casa e, em vez de fazer a chamada da cozinha onde não poderia ver o que se passava nos terrenos de Lê Reposoir, fê-la do quarto do primeiro andar. Sentou-se na cama, do lado de Kevin, mais perto da janela e, enquanto via os polícias separarem-se e dirigirem-se aos jardins e aos vários edifícios da propriedade, sentiu o cheiro da camisa de trabalho que o marido abandonara sobre o braço de uma cadeira.
Atende, pensou. Atende. Atende. O toque continuava.
Voltou as costas à janela e curvou-se sobre o telefone, concentrando-se para enviar a sua força de vontade através do auscultador. Se a ligação continuasse, bastaria o barulho irritante para que alguém atendesse.
Kevin não gostaria. Diria: "Porque fazes isto, Valerie?", e ela não seria capaz de lhe responder de uma forma directa e honesta porque, durante muito tempo, houvera muita coisa em jogo que a tinha impedido de ser directa e honesta.
Atende, atende, atende, pensou.
Ele saíra muito cedo. O tempo estava a piorar de dia para dia, dissera, e precisava de tratar da goteira da janela da casa de Mary Beth. Como estava exposta directamente a oeste, de frente para Portelet Bay, teria um problema enorme quando chegassem as chuvas. As janelas mais baixas eram as da sala e a água estragar-lhe-ia o tapete, já para não falar no bolor que se haveria de formar, e Valerie sabia que as filhas de Mary Beth eram alérgicas à humidade. Lá em cima era ainda pior, porque as janelas eram as dos quartos das duas miúdas. Não poderia permitir que a chuva entrasse e escorrer pelas paredes enquanto as sobrinhas dormiam. Tinha responsabilidades de cunhado e não gostava de as descuidar.
Por isso fora tratar das janelas da cunhada. Pobre Mary Beth, pensou Valerie, lançada na viuvez pela doença de coração do marido, quando saía de um táxi para entrar num hotel do Kuwait. Em menos de um minuto tudo se acabara para Corey. Kev partilhava a doença congênita do irmão gêmeo, mas nenhum deles soubera da sua existência até Corey ter morrido na rua sob o sol abrasador do Kuwait. Assim, Kevin devia a vida à morte de Corey. O defeito congênito num dos gêmeos sugeria a possibilidade da existência da mesma doença no outro. Kevin tinha agora um aparelho mágico no peito que teria salvo Corey se alguém tivesse suspeitado do que se passava no seu coração.
Valerie sabia que, por isso, o marido se sentia duplamente responsável pela viúva e pelas filhas do irmão. Enquanto tentava lembrar-se que esse sentido de obrigação nem sequer existiria se Corey não tivesse morrido, não pôde deixar de olhar para o relógio da mesa-de-cabeceira, perguntando a si própria quanto tempo demoraria ele a calafetar quatro ou cinco janelas.
As miúdas deviam estar na escola - as duas sobrinhas de Kev - e Mary Beth sentir-se-ia grata. A sua gratidão, juntamente com o desgosto, poderia transformar-se numa mistura explosiva.
Faz-me esquecer, Kev. Ajuda-me a esquecer.
O telefone continuava a tocar, a tocar, a tocar. Valerie ouvia cabisbaixa. Esfregou os olhos.
Sabia muito bem como funcionava um jogo de sedução. Já o vira acontecer diante dos seus olhos. Uma história entre um homem e uma mulher que nascia de olhares oblíquos e entendidos. Que se definia a partir daqueles momentos de contacto casual para os quais existia uma explicação fácil. Dedos que se tocam quando se passa um prato, uma mão sobre um braço, só para acentuar um comentário engraçado. Depois, a pele afogueada, um presságio de fome dentro dos olhos. No final vinham as razões para não se afastarem, para ver o amado, para ser visto e desejado.
Como tinham chegado àquilo? perguntou a si própria. Onde chegariam as coisas se ninguém falasse?
Nunca soubera mentir bem. Encostada à parede, tinha de ignorar a questão, afastar-se, fingir que não compreendia ou dizer a verdade. Olhar de frente para outra pessoa e enganá-la estava muito longe das suas magras capacidades. Quando lhe perguntavam, "O que sabes sobre isto, Vai?", as suas opções limitavam-se a fugir ou a confessar.
Tinha a certeza absoluta daquilo que vira da janela na manhã da morte de Guy Brouard. Ainda estava certa. Tivera a certeza naquela altura porque tudo batia certo com o modo como Guy Brouard vivia: a passagem matutina a caminho da praia, onde, todos os dias, voltava a encenar um banho que, mais do que um exercício, representava a garantia de uma proeza e da virilidade que o tempo estava finalmente a esgotar e, momentos mais tarde, da pessoa que o seguira. Valerie tinha agora a certeza de quem era a pessoa porque vira como Guy Brouard se comportara com a americana - encantador e encantado como era seu costume, em parte à maneira antiga, em parte com a familiaridade moderna -, e sabia o que a sua maneira de ser podia fazer a uma mulher e podia obrigar uma mulher a fazer.
Mas matar? Era esse o problema. Podia acreditar que China River o tinha seguido até à praia, provavelmente para um encontro que tinha sido arranjado antecipadamente. Acreditava que muita coisa - senão tudo ou uma parte - se tinha passado entre eles antes dessa manhã. Mas não conseguia acreditar que a americana tivesse morto Guy Brouard. Matar um homem - principalmente matar um homem que fora tão apreciado - não era obra de uma mulher. As mulheres matavam as rivais pelo afecto de um homem, não matavam o homem.
O lógico seria pensar que a própria China River estivera em perigo. Anais Abbott não poderia ter ficado satisfeita ao ver o amante dar atenção a outra mulher. E Valerie perguntou a si própria se não haveria outros que ao vê-los aos dois - China River e Guy Brouard -, tivessem percebido o rápido entendimento que se desenrolara entre eles como o florescer de uma relação. E outras pessoas que tivessem considerado China River, não como uma simples desconhecida de passagem por Lê Reposoir, mas como um obstáculo à realização de projectos que pareciam em vias de se concretizar antes da sua chegada a Guernsey? Mas, se fosse esse o caso, porquê matar Guy Brouard?
Atende, atende, disse Valerie para o telefone.
Depois de repente
- Vai, o que está a polícia a fazer aqui?
Valerie deixou cair o auscultador no colo. Voltou-se e descobriu que Kevin estava à porta do quarto, a desabotoar a camisa, sugerindo que queria mudar de roupa. Por breves momentos, perguntou a si própria porque seria. - O cheiro dela, Kev? - mas depois viu que ele andava à procura no guarda-fato de uma coisa mais quente por causa do frio: uma camisola de pescador, de lã grossa, para poder trabalhar na rua.
Kevin olhou primeiro para o telefone que ela tinha no colo e depois para ela. O auscultador emitia, ao longe, o som do toque contínuo do outro lado da linha. Valerie agarrou nele e poisou-o no descanso. Apercebeu-se do que não tinha dado conta: uma dor aguda nas articulações das mãos. Mexeu os dedos, mas estremeceu com o choque da dor surda. Perguntou a si própria se ainda não teria notado.
- Dói-te muito? - perguntou Kev.
- De vez em quando.
- Estás a telefonar ao médico?
- Como se isso mudasse as coisas. Ele continua a dizer que não se passa nada. Senhora Duffy, a senhora não tem arterite. E aqueles comprimidos... parece-me que não passam de açúcar, Kev, para me animar. Mas a dor é verdadeira. Há dias em que os meus dedos nem se podem mexer.
- Queres ir a outro médico?
- É tão difícil encontrar alguém em quem confiar. - Era verdade, pensou. E quem lhe tinha ensinado a suspeitar e a duvidar?
- Estou a referir-me ao telefone - disse Kevin enquanto despia a camisola de lã. - Queres experimentar outro médico? Se a dor piorar, precisas de fazer alguma coisa.
- Oh! - Valerie olhou para o telefone que tinha sobre a mesa-de-cabeceira, para evitar olhar para o marido. - Sim, sim. Estava a tentar... não consegui ligação. - Esboçou um rápido sorriso. - A que este mundo chegou. Os médicos não atendem o telefone, nem sequer nos consultórios - bateu com as mãos nas coxas, e levantou-se da cama. - vou buscar os comprimidos. Se é tudo produto da minha imaginação, como o médico pensa, talvez os comprimidos enganem o meu corpo.
Enquanto tomou os comprimidos, conseguiu recompor-se. Foi buscá-los à casa de banho e levou-os para a cozinha para os puder tomar, como sempre, com sumo de laranja. Nada havia de extraordinário em que Kevin pudesse reparar.
Quando este desceu as escadas para vir ter com ela, já ela estava preparada.
- Está tudo bem com a Mary Beth - perguntou com ar alegre. - Conseguiste arranjar-lhe as janelas?
- Está preocupada com o Natal. Vai ser o primeiro sem o Corey.
- Vai ser difícil. Vai sentir a falta dele por muito tempo. Como eu sentiria a tua falta, Kev. - Valerie retirou um pano da loiça limpo de uma gaveta e pôs-se a limpar as bancadas com ele. Não era preciso, mas queria fazer qualquer coisa que evitasse ter de contar a verdade. Ao manter-se ocupada, conseguia que a sua voz, o seu corpo e a sua expressão não a traíssem e era o que queria: o conforto de saber que estava em segurança, com os seus sentimentos bem guardados. - E é também uma provação quando te vê, acho eu. Olha para ti e vê o Corey.
Kevin não respondeu e ela viu-se obrigada a olhar para ele.
- Ela está preocupada com as miúdas. - disse ele - Pediram ao Pai Natal que lhes traga o pai de volta. A Mary Beth está preocupada com o que possa acontecer quando elas virem que é impossível.
Valerie esfregou o tampo da bancada, em cuja superfície uma panela demasiado quente deixara uma marca negra na superfície. Esfregar não resolveria o problema. Fora feito havia muito tempo e deveriam ter tratado daquilo nessa altura.
- O que está a polícia a fazer aqui, Vai? - repetiu Kevin.
- Uma busca.
- Porquê?
- Não disseram.
- Tem a ver com...
- Sim. Que mais haveria de ser? Levaram os comprimidos da Ruth...
- Não estarão a pensar que a Ruth...
- Não. Não sei. Acho que não. - Valerie deixou de esfregar e dobrou o pano da loiça. A nódoa ficou exactamente igual.
- Nem parece teu estares aqui a esta hora do dia - disse Kevin. - Não há trabalho na casa grande? Não tens de cozinhar?
- Tive de me afastar dessa gente - disse ela, referindo-se à polícia.
- Pediram-te isso?
- Foi o que me pareceu.
- Virão revistar isto aqui, se já revistaram a outra casa. - Olhou pela janela como se conseguisse ver a casa grande da cozinha. - Gostaria de saber de que andam à procura.
- Não sei - repetiu ela, mas sentiu a garganta apertada.
Um cão começou a ladrar diante da casa. Depois os latidos passaram a ganidos. Ouviu-se um grito. Valerie e o marido foram à sala, cujas janelas davam para o relvado atrás do qual ficava o atalho. Perto da estátua de bronze que representava os nadadores e os golfinhos viram Paul Fielder e Taboo com a polícia local, representada por um único agente encostado a uma árvore com o cão agarrado às calças. Paul deixou cair a bicicleta e começou a puxar pelo animal. O guarda avançou com o rosto corado e vociferando.
- É melhor ir ver o que se passa - disse Valerie. - Não quero que o nosso Paul se veja metido em sarilhos.
Agarrou o casaco que deixara nas costas de uma cadeira, quando entrara em casa. Dirigiu-se à porta.
Kevin só falou quando a mão dela poisou no puxador da porta e só pronunciou o nome dela.
Ela olhou-o: viu-lhe o rosto curtido, as mãos ásperas do trabalho, o olhar indecifrável. Quando falou, ela ouviu a pergunta dele, mas não conseguiu resolver-se a responder.
- Há alguma coisa que me queiras dizer? - perguntou.
Ela sorriu alegremente e abanou a cabeça.
Deborah estava sentada sob um céu cinzento perto da estátua de Victor Hugo, cuja capa e cachecol de granito ondulavam para sempre ao vento que soprava da sua França natal. Estava sozinha na suave encosta de Candie Gardens, tendo subido o monte desde Ann's Place, directamente depois de sair do hotel. Dormira mal, demasiado consciente do corpo do marido e decidida a não se voltar para ele durante a noite. Aquele estado de espírito não era propício a Morfeu. Levantou-se antes do nascer do Sol e foi dar uma volta.
Depois do seu furioso encontro com Simon na tarde anterior, voltara para o hotel. Mas aí sentira-se como uma criança culpada. Furiosa pelo seu subconsciente aceitar aquela sensação de remorso quando sabia que não tinha feito nada de mal, saiu de novo e não voltou senão depois da meia-noite, quando estava quase certa de que Simon estaria a dormir.
Dirigira-se a casa de China.
- O Simon está a ser perfeitamente impossível - disse ela.
- Mas essa é a definição que dou a um h-o-m-e-m. - China mandou Deborah entrar e cozinharam massa, China no fogão e Deborah encostada à parede.
- Conta-me tudo - disse China afavelmente. - A tia está aqui para te tratar das feridas.
- Aquele estúpido anel - disse Deborah. - Ficou completamente furioso por causa dele. - Explicou toda a história a China enquanto esta despejava um boião de molho de tomate na panela e começava a mexer.
- Dir-se-ia que eu tinha cometido um crime - concluiu.
- De qualquer maneira foi uma estupidez - disse China depois de Deborah ter terminado. - Quero dizer, até o facto de eu o ter comprado. Foi um impulso. - Inclinou a cabeça na direcção de Deborah. - Exactamente o tipo de coisa que tu nunca terias feito.
- O Simon pensa que só eu ter trazido aqui o anel já foi suficientemente impulsivo.
- Verdade? - Por momentos China olhou para a massa que estava ao lume e depois respondeu com naturalidade. - bom. Agora já vejo porque razão ele não se mostra exactamente desejoso de me conhecer.
- Não é isso - Deborah protestou imediatamente. - Não podes... Vais conhecê-lo. Ele está ansioso... Ouviu falar tanto de ti nestes anos todos.
- Sim? - China ergueu os olhos da panela e olhou-a com ar de dúvida. Deborah sentiu-se mal sob aquele olhar.
- Tudo bem - disse China. - Tu seguiste a tua vida. Não há nada de mal nisso. Os três anos que passaste na Califórnia não foram os melhores da tua vida. Percebo por que razão querias esquecê-los. E se nos mantivéssemos em contacto... seria uma forma de os recordar, não é verdade? Afinal é o que muitas vezes acontece com as amizades. As pessoas são muito próximas em determinada altura e depois deixam de o ser. As coisas mudam. As necessidades mudam. As pessoas partem para outros lugares. É assim. Mas tive saudades tuas.
- Devíamos ter mantido o contacto - disse Deborah.
- É difícil quando alguém não escreve, não telefona, nem nada. China lançou-lhe um sorriso. Um sorriso triste e Deborah sentiu-o.
- Desculpa, China. Não sei porque não escrevi. Pensava fazê-lo, mas o tempo passou e depois... deveria ter escrito. Mandado um e-mail. Telefonado.
- Feito soar os tambores.
- Qualquer coisa. Deves ter sentido... não sei... provavelmente pensaste que eu me tinha esquecido de ti. Mas não esqueci. Como poderia? Depois de tudo aquilo?
- Recebi a participação de casamento. - Mas não o convite, foi a frase que ficou por dizer.
Mesmo assim, Deborah percebeu-a. Tentou explicar-se.
- Pensei que acharias estranho. Depois do Tommy. Assim de repente depois de tudo o que tinha acontecido, ia casar-me com outra pessoa. Acho que não sabia como havia de te explicar.
- Mas pensaste que tinhas de o fazer. Porquê?
- Porque parecia... - Deborah queria a palavra adequada para descrever como a sua mudança de Tommy Lynley para Simon St. James poderia parecer a alguém que não conhecesse toda a história do seu amor por Simon e o seu afastamento dele. Fora doloroso de mais falar no assunto a quem quer que fosse enquanto estivera na América. E, depois, Tommy estava lá, e preenchera um vazio que, nessa altura, nem ele sabia que existia. Era muito complicado. Sempre fora. Talvez tivesse sido por isso que ela deixara China como parte da sua experiência americana que incluía Tommy, e tinha assim de ser relegada para o passado, depois de terminado o seu tempo com ele. - Nunca te falei muito do Simon, pois não? - perguntou.
- Nunca tocaste no nome dele. Ficavas muitas vezes à espera do carteiro e parecias um cachorrinho sempre que o telefone tocava. Como a carta que esperavas não chegava e o telefonema também não, desaparecias durante horas. Imaginei que fosse alguém em Inglaterra que querias esquecer, mas de quem não querias falar. Pensei que me dissesses quando estivesses disposta a isso. Nunca o fizeste. - China despejou a massa num passador. Voltou-se do lava-loiça envolvida numa nuvem de vapor. - Era uma coisa que poderíamos ter partilhado - disse. - Lamento que não tivesses confiado em mim.
- Não foi bem assim. Pensa em tudo o que aconteceu, em tudo aquilo que mostra que eu confiei completamente em ti.
- O aborto, claro. Mas isso foi físico. A parte emocional nunca a confiaste a ninguém. Nem quando casaste com o Simon. Até mesmo agora, que discutiste com ele. As amigas devem partilhar, Debs. Não são cômodos lenços de papel para se ter à mão quando é preciso assoar o nariz.
- É isso que pensas que foste para mim? O que agora és para mim? China encolheu os ombros.
- Acho que não tenho a certeza.
Agora, em Candie Gardens, Deborah reflectia na sua noite com China. Cherokee não aparecera enquanto ela lá estivera - "Disse que ia ao cinema, mas o mais certo é estar metido num bar com alguma mulher" -, por isso não houve qualquer distracção, nem qualquer modo de evitar observar o que tinha acontecido à amizade de ambas.
Em Guernsey tinham os papéis estranhamente trocados, o que criava incertezas entre elas. China, que havia muito tinha sido a parte maternal daquela amizade, tomando conta de uma estrangeira que viera para a Califórnia, ferida por um amor não reconhecido, fora forçada pelas circunstâncias a transformar-se numa China suplicante, dependente da bondade de outros. Deborah que fora sempre quem recebera os cuidados de China, via-se agora na pele do bom Samaritano. Esta alteração na maneira como se relacionavam uma com a outra, confundia-as ainda mais do que se entre elas tivesse havido apenas a dor causada pelos anos em que não tinham comunicado. Por isso, nem uma, nem outra sabiam muito bem o que dizer. Mas Deborah acreditava que lá no fundo ambas sentiam o mesmo, por muito desarticulados que fossem os seus esforços para o exprimirem, cada uma delas estava preocupada com o bem-estar da outra mas, ao mesmo tempo, um pouco na defensiva. Tentavam reencontrar-se e reencontrar um caminho para avançar que seria afinal o modo de fugirem ao passado.
Deborah ergueu-se do banco quando um raio de sol veio iluminar o atalho cinzento que conduzia ao gradeamento do jardim. Seguiu-o por entre a relva e os arbustos, dando a volta a um lago onde nadavam peixinhos dourados, delicadas miniaturas dos peixes do jardim japonês de Lê Reposoir.
Lá fora, na rua, aumentava o trânsito da manhã e os peões apressavam-se a seguir para o centro da cidade. A maior parte deles atravessava a estrada para chegar a Ann's Place. Deborah seguiu-os, descrevendo a curva suave que levava ao hotel.
Do lado de fora, viu Cherokee encostado ao muro baixo que marcava o limite do jardim em forma de poço. Estava a comer qualquer coisa embrulhada num guardanapo de papel e a beber um líquido fumegante de um copo de plástico. Não desviava os olhos da fachada do hotel.
Deborah foi ter com ele. Estava tão atento à sua observação do edifício do outro lado da rua que não deu por ela e sobressaltou-se quando ouviu o seu nome. Depois sorriu.
- Funciona mesmo - disse. - Estava a enviar-te uma mensagem telepática para que viesses cá fora.
- Geralmente, as mensagens telefônicas funcionam melhor - replicou ela. - O que estás a comer?
- Um croissant de chocolate. Queres? - estendeu-lho.
Ela cobriu a mão dele com a sua e segurou-a firmemente.
- E está fresquinho. Que bom. - Deu uma dentada. Cherokee estendeu-lhe o copo de onde saía a fragrância do café
quente. Ela sorveu um gole. Ele sorriu.
- Excelente.
- O quê?
- O que acabou de acontecer aqui.
- E o que foi?
- O nosso casamento. Nalgumas tribos mais primitivas da Amazônia, terias acabado de te tornar minha mulher.
- E o que significaria isso?
- Vem comigo para a Amazônia e logo vês. - Deu uma dentada no croissant e observou-a mais de perto. - Não sei o que se passou comigo naquela altura. Nunca me apercebi de que eras tão gira. Deve ter sido porque tinhas par.
- Continuo a ter par - comentou Deborah.
- As mulheres casadas não contam.
- Porquê?
- É difícil de explicar.
Ela encostou-se ao muro, ao lado dele, pegou no copo do café e deu outro gole.
- Experimenta.
- É coisa de homens. São regras básicas. Podemos fazer avanços a uma mulher, quer ela seja solteira ou casada. Solteira porque está disponível, e temos de confessar que geralmente anda à procura de alguém que lhe garanta que tem bom aspecto; por isso aceita o avanço. Casau. porque o marido talvez a ande a ignorar há algum tempo e, se não anda, ela di-lo imediatamente para que não percas tempo. Mas a mulher que está ligada a um fulano mas que não é casada com ele, está completamente fora dos limites. É imune aos nossos avanços e, se o tentares, provavelmente o fulano vai pedir-te contas.
- Parece-me ser a voz da experiência - observou Deborah. Ele esboçou um sorriso subtil.
- A China pensou que, ontem à noite, andasses atrás de uma mulher.
- Ela disse que tu ias lá. E eu gostaria de saber porquê.
- Ontem à noite as coisas ficaram um pouco desagradáveis por aqui.
- Então estás disponível para um avanço. Coisas desagradáveis são coisas boas para os avanços. Dá mais uma dentada no croissant. E bebe mais café.
- Para selar o nosso casamento amazônico?
- Vês? Já estás apensar como uma sul-americana. Soltaram ambos uma gargalhada.
- Devias ter ido a Orange County mais vezes - disse Cherokee. Teria sido agradável.
- Para te teres atirado a mim?
- Não. Isso é o que estou a fazer agora.
Deborah soltou uma gargalhadinha. Claro que ele estava a brincar. Estava tão interessado nela como na irmã. Mas tinha de admitir que a corrente que passava entre eles - aquela electricidade que por vezes dá cor às relações entre um homem e uma mulher - era agradável. Perguntou a si própria há quanto tempo estaria ela ausente do seu casamento. Perguntou a si própria se de facto estaria ausente.
- Queria o teu conselho - disse Cherokee. - Não dormi decentemente ontem à noite só a pensar no que haveria de fazer.
- Sobre quê?
- Telefonar à minha mãe. A China não a quer metida no assunto. Não quer que ela saiba de nada disto. Mas estou a pensar que ela tem direito. Estamos a falar da nossa mãe. A China diz que ela não faz nada aqui e é verdade. Mas podia cá estar, não achas? De qualquer forma estava a pensar chamá-la. Que dizes?
Deborah reflectiu. No melhor, as relações de China com a mãe tinham sido mais como uma trégua armada entre dois exércitos inimigos. O ódio que China sentia pela mãe tinha as suas raízes numa infância afectivamente carenciada. Essas carências provinham do facto de Andromeda River, apaixonada pela política social e ambiental, nunca se ter particularmente importado com os filhos nem com a vida que os obrigava a levar. Como tal nunca tivera tempo para Cherokee ou para China, cujos anos da adolescência tinham sido passados em motéis com paredes de lata onde o único luxo era uma máquina de gelo ao lado do escritório do proprietário. Deborah sabia que China possuía um profundo reservatório de raiva contra a mãe, pelas condições em que os tinha criado, ao mesmo tempo que erguia cartazes de protesto contra os animais e plantas em vias de extinção e, ainda por cima, crianças que viviam em condições muito semelhantes àquelas que os filhos tinham de suportar.
- Talvez devesses esperar uns dias - sugeriu Deborah. - A China está nervosa... e quem não o estaria? Se ela não a quer aqui, será melhor respeitar-lhe os desejos. Pelo menos por enquanto.
- Achas que as coisas vão piorar, não é verdade? Ela suspirou.
- Há o problema do anel. Quem me dera que ela não o tivesse comprado.
- Também eu.
- Cherokee, o que se passou entre ela e o Matt Whitecomb?
Cherokee olhou para o hotel e pareceu observar as janelas do primeiro andar, onde as cortinas estavam ainda corridas àquela hora da manhã.
- Aquilo não tinha futuro. Ela não percebia. Era o que era e nada mais. Mas ela queria que fosse mais. Experimentou acreditar que era mais importante do que realmente era.
- Mais importante, depois de treze anos? - perguntou Deborah. Como pode ser isso?
- Pode ser porque os homens são uns idiotas. - Cherokee bebeu o resto do café e continuou. - É melhor eu voltar para casa, sim?
- Claro.
- E tu e eu, Debs?... Temos de trabalhar mais para a tirar deste sariLho. Sabes isso, não é verdade? - Estendeu a mão, parecendo por um momento querer acariciar-lhe o rosto ou o cabelo. Mas deixou cair a mão até ao ombro dela e apertou-lho. Depois dirigiu-se a passos largos para Clifton Street, a pouca distância da Royal Court House, onde China seria julgada em breve se não fizessem alguma coisa para o evitar.
Deborah regressou ao quarto do hotel. Aí encontrou Simon no meio de um dos seus rituais matutinos. Tinha geralmente a sua ajuda ou a do pai dela e usar sozinho os eléctrodos era-lhe muito difícil. Mesmo assim, parecia ter conseguido colocá-los com bastante precisão. Estava deitado na cama com um exemplar do Guardian do dia anterior e lia as notícias da primeira página, enquanto a electricidade lhe estimulava os músculos inúteis da perna, para que não se atrofiassem.
Deborah sabia que aquilo era a sua vaidade principal. Mas que também representava um resquício de esperança de que um dia fosse encontrada uma maneira para ele poder andar normalmente. Quando esse dia chegasse queria que a perna estivesse capaz de fazer o seu trabalho.
Sempre que encontrava Simon num momento assim, Deborah sentia-se enternecida. Ele sabia-o e, como detestava qualquer coisa que se parecesse com a piedade, ela fazia sempre um esforço para fingir que aquela actividade era tão normal como lavar os dentes.
- Quando acordei e não te vi aqui, fiquei aflito - disse ele. - Pensei que tivesses passado a noite fora.
Ela despiu o casaco e dirigiu-se à chaleira eléctrica, encheu-a de água e ligou-a. Meteu no bule dois sacos de chá.
- Estava furiosa contigo. Mas não tanto que fosse dormir na rua.
- Nunca pensei que acabasses por dormir na rua.
Ela olhou para trás, para onde ele estava, mas o marido examinava uma página interior do jornal.
- Estivemos a falar dos velhos tempos. Estavas a dormir quando voltei. Depois não consegui dormir. Foi uma daquelas noites de insónia. Levantei-me cedo e fui dar uma volta.
- O dia está bonito?
- Frio e cinzento. Parece que estamos em Londres.
- Estamos em Dezembro - comentou Simon.
- Hmm... - respondeu ela. Contudo, lá por dentro gritava, "Por amor de Deus, porque estamos nós a falar do tempo? Será o que se passa em todos os casamentos?"
Como se lhe lesse os pensamentos e desejasse provar que estava errada, Simon disse.
- Parece que o anel é dela, Deborah. Não havia outro entre os seus haveres na sala das provas. Claro que só poderão ter a certeza quando...
- Tem as impressões digitais dela?
- Ainda não sei.
- Então...
- Teremos de esperar para ver.
- Pensas que ela é culpada, não é verdade? - Deborah percebeu que falava em tom amargo e embora tentasse fazer o mesmo que ele, ser racional, reflectir, aperceber-se dos factos e não deixar que eles dessem cor aos seus pensamentos, o esforço foi em vão. - Afinal não a ajudamos em nada.
- Deborah, vem cá - disse Simon em voz baixa. - Senta-te na cama.
- Meu Deus. Odeio quando me falas assim.
- Estás zangada com o que se passou ontem. Aquilo que eu fiz contigo foi... sei que foi errado. Grosseiro. Mau. Admito e peço-te desculpas. Podemos passar adiante? Porque gostaria de te dizer aquilo que descobri. Quero contar-te o que se passou ontem à noite. Ter-te-ia dito, mas seria difícil. Eu fui incrível e tu tiveste toda a razão em desaparecer.
Simon acabara de reconhecer um erro. Nunca tinha ido tão longe ao admitir qualquer culpa no seu casamento. Deborah reconheceu-o e aproximou-se da cama, onde os músculos da perna dele estremeciam com a actividade eléctrica. Sentou-se na beira do colchão.
- O anel deve ser dela, mas isso não significa que ela lá estivesse, Simon.
- Concordo. - Continuou a explicar-lhe como passara as horas depois de se terem separado no jardim.
A diferença horária entre Guernsey e a Califórnia tornara possível contactar o advogado que contratara Cherokee River para trazer as plantas do outro lado do oceano. William Kiefer começara a sua conversa citando a confidencialidade entre advogado e cliente, mas cooperara assim que tivera conhecimento de que o cliente em questão tinha sido assassinado numa praia de Guemsey.
Kiefer explicara a Símon que Guy Brouard o contratara para dar início a uma invulgar série de tarefas. Desejava que Kiefer localizasse uma pessoa de confiança, que estivesse disposta a servir de correio para um conjunto de importantes plantas arquitectónicas entre Orange County e Guernsey.
A princípio, a missão parecera-lhe idiota, embora não fosse essa a palavra que utilizara com o senhor Brouard, durante o breve encontro de ambos. Porque não utilizar um dos habituais serviços de correio que tinham sido exactamente criados para trabalhos como o que Brouard queria e que tinham um custo mínimo? FedEx? DHL? Até mesmo a UPS? Mas afinal o senhor Brouard era uma intrigante mistura de autoridade, excentricidade a paranóia. Disse a Kiefer que tinha dinheiro para fazer as coisas assim e costumava conseguir o que queria, quando queria. Levaria ele próprio as plantas, mas só estava em Orange County para tratar de que elas fossem desenhadas. Não podia ficar o tempo necessário para que ficassem prontas.
Queria alguém disponível para fazer de correio, dissera. Estava disposto a pagar o que fosse preciso para conseguir essa pessoa. Não confiava num único homem para fazer o trabalho - Kiefer explicou o que Brouard lhe dissera que tinha um filho que era um falhado, o que fazia desconfiar de qualquer jovem. Também não queria uma mulher a viajar sozinha para a Europa porque não gostava da idéia de mulheres sozinhas e não se queria sentir responsável se alguma coisa lhe acontecesse. Era antiquado. Ficaram-se então por um homem e uma mulher. Procurariam um casal, marido e mulher, de qualquer idade que preenchesse os requisitos.
Kiefer disse que Brouard fora suficientemente excêntrico para oferecer cinco mil dólares pelo trabalho mas suficientemente avarento para apenas lhes oferecer viagens em classe turística. Como queria que o casal em questão partisse logo que as plantas estivessem prontas, a melhor fonte de contratação pareceu-lhe ser a Universidade da Califórnia. Fora aí que Kiefer pusera o anúncio e esperara para ver o que aconteceria.
Entretanto, Brouard pagou-lhe os honorários e acrescentou os cinco mil dólares prometidos aos correios. Como os cheques não foram devolvidos e porque Kiefer achou o cenário bizarro, o advogado assegurou-se de que nada era ilegal verificando a identidade do arquitecto, para saber se era de facto um arquitecto e não um fabricante de armas, uma fonte de plutónio, um traficante de droga ou um fornecedor de substâncias destinadas à guerra química. Obviamente, dissera Kiefer, nenhum deles enviaria encomendas por um serviço de correio legítimo.
Afinal, o arquitecto era um homem chamado Jim Ward que, por acaso, andara no liceu com Kiefer. Confirmara toda a história. Estava a reunir um conjunto de plantas e desenhos para o senhor Guy Brouard, Lê Reposoir, St. Martin, ilha de Guemsey. Brouard queria as plantas e os desenhos prontos o mais depressa possível.
Kiefer resolveu então tratar de tudo o que lhe competia. Apareceram vários candidatos para o emprego e, entre eles, escolheu um homem chamado Cherokee. Era mais velho do que os outros, explicou Kiefer, e era casado.
- William Kiefer - concluiu Simon - confirmou essencialmente a história completa dos River até à última vírgula, ponto de interrogação e ponto final. Era uma maneira estranha de fazer as coisas, mas começo a ter a impressão de que o Brouard gostava de fazer as coisas de modo estranho. O facto de desequilibrar as pessoas, dava-lhe a possibilidade de as controlar, o que é importante para os homens ricos. Para começar é assim que enriquecem.
- A polícia sabe tudo isso? Ele abanou a cabeça.
- Mas o Lê Gallez já tinha todos os documentos. Suponho que esteja a um passo de descobrir.
- E então liberta-a?
- Porque a história dela bate certo? - Simon estendeu a mão para a caixa que era a fonte dos eléctrodos. Desligou a unidade e começou a retirar os fios metálicos. - Acho que não, Deborah. A menos que encontre alguma coisa que aponte definitivamente para outra pessoa. - Agarrou as canadianas que estavam no chão e saiu da cama.
- E há mais alguma coisa que indique outra pessoa?
Ele não respondeu. Levou algum tempo a colocar o aparelho que estava ao lado de uma cadeira por baixo da janela. Deborah teve a impressão que as correias eram inúmeras nessa manhã e que ele passara imenso tempo a levantar-se, vestir-se e a retomar a conversa.
- Pareces preocupada - disse ele.
- A China perguntou porque é que tu... bom, porque é que tu não te queres encontrar com ela. Parece que tens uma razão para manter as distâncias. Tens?
- À primeira vista é a pessoa mais lógica para fazer de culpada ideal. Não há dúvidas de que ela e Brouard passaram algum tempo juntos, foi fácil alguém roubar-lhe a capa e, quem quer que tivesse acesso ao quarto dela, teria também acesso ao seu cabelo e aos seus sapatos. Mas a premeditação num assassínio exige um motivo. E, por mais que se procure, ela não tem esse motivo.
- Mesmo assim a polícia pode pensar...
- Não. Sabem que não têm o motivo, o que nos abre o caminho.
- Para encontrar outra pessoa?
- Sim. Por que razão premeditam as pessoas um assassínio? Vingança, inveja, chantagem ou lucro material. Atrevo-me a dizer que é para aí que temos de dirigir as nossas energias.
- Mas o anel... Simon, e se de facto pertencer à China?
- É melhor sermos o mais rápidos possível com o nosso trabalho.
Capítulo 17
MARGARET CHAMBERLAIN APERTAVA com FORÇA O VOLANTE ENquanto regressava a Lê Reposoir. A força mantinha-a centrada naquele momento e na condução do Range Rover enquanto percorria Belle Greve Bay, sem pensar no seu encontro com a família Fielder. Fora fácil encontrá-los: havia apenas dois Fielder na lista telefônica e um deles vivia em Alderney. O outro tinha o seu domicílio na Rue dês Lierres numa zona entre St. Peter Fort e St. Sampson. Fora fácil dar com a rua no mapa, mas encontrá-la realmente fora muito mais difícil, pois aquela parte da cidade - chamada Bouet - estava mal marcada e mal sinalizada.
O Bouet acabou por trazer a Margaret a desagradável lembrança do seu passado distante como membro de uma família de seis filhos onde o dinheiro nem chegava para todos nem para cada um deles. No Bouet viviam os habitantes mais desfavorecidos da ilha e as suas casas eram semelhantes às casas de pessoas com aqueles problemas em todas as cidades de Inglaterra. Eram horríveis, com varandas e portas estreitas, janelas de alumínio picado de ferrugem. A sebe era composta não por arbustos mas por sacos de lixo demasiado cheios, e em vez de canteiros a pouca relva que existia estava cheia de entulho.
Quando Margaret saiu do carro naquela rua viu dois gatos assanhados, disputando a posse de metade de um empadão de carne de porco abandonada numa sarjeta. As gaivotas alimentavam-se dos restos de um pão que tinha ficado na relva. Estremeceu ao ver tudo aquilo, mesmo sabendo que decerto teria uma distinta vantagem na conversa que se seguiria. Certamente os Fielders não estariam em posição de contratar um advogado que lhes explicasse os seus direitos. Pensou que não seria difícil retirar-lhes o que era devido a Adrian.
Só não contara com a criatura que lhe abriu a porta. Era uma massa enorme de antagonismo do sexo masculino, suja e mal vestida. Margaret cumprimentou-o delicadamente e perguntou se Paul Fielder vivia ali.
- Pode ser que viva, pode ser que não viva - foi a resposta dele enquanto lhe colava os olhos nos seios com a deliberada intenção de a enervar.
- Não é o senhor Fielder, pois não? O pai... - Mas claro que não poderia ser. com toda aquela deliberada precocidade sexual não parecia ter mais de vinte anos. - Deve ser o irmão. Gostaria de falar com os seus pais, se eles estiverem em casa. Diga-lhes que se trata do seu irmão. O Paul Fielder é seu irmão, julgo eu.
Ele ergueu momentaneamente os olhos dos seios dela.
- O larilas - disse ele e afastou-se da porta.
Margaret tomou aquilo como um convite para entrar e, quando a besta desapareceu nas traseiras da casa, achou que se tratava de mais outro convite para ir atrás dele. Encontrou-o só, numa cozinha apertada, cheirando a bacon rançoso, onde ele acendeu um cigarro no queimador do fogão a gás para se voltar para ela engolindo o fumo.
- Que foi que ele fez agora? - perguntou o irmão Fielder.
- Herdou uma grande quantia do meu marido, do meu ex-marido para ser mais exacta. Para a herdar tirou-a ao meu filho, que é quem a deve receber. Gostaria de evitar uma longa batalha judicial e, por causa disto, vim ver se os seus pais pensavam da mesma maneira.
- Não me diga - disse o irmão Fielder. Ajustou as calças de ganga sujas às ancas, abriu as pernas e soltou um ruidoso gás.
- Perdão - disse ele. - Tenho de ser mais educado com uma senhora. Esqueci-me.
- Suponho que os seus pais não estejam cá. - Margaret pôs o saco ao ombro, indicando que aquele encontro iria terminar em breve. - Diga-Lhes por favor...
- Talvez os gajos estejam lá em cima. Gostam da brincadeira de manhã, sabe. E você? Quando é que gosta mais?
Margaret chegou à conclusão que a conversa com aquela besta já tinha ido longe de mais-.
- Faça o favor de lhes dizer que a Margaret Chamberlain... ex-Brouard... passou por aqui. Telefono-lhes mais tarde. - Voltou-se para sair por onde tinha entrado.
- Margaret Chamberlain Ex Brouard - repetiu o irmão Fielder. Sei lá se consigo lembrar-me. vou precisar de uma ajuda para dizer uma coisa tão comprida.
Margaret deteve-se à porta da rua.
- Se tiver um papel, eu escrevo.
Estava no corredor entre a porta e a cozinha e o jovem foi ter com ela. A sua proximidade no corredor estreito fazia-o parecer mais ameaçador do que de contrário seria e o silêncio da casa em redor deles e lá em cima pareceu aumentar de repente.
- Não estava a pensar num papel - disse. - Os papéis não me servem para nada.
- Muito bem. Então pronto. Eu telefono e logo lhes digo quem sou. Margaret voltou-se, embora tivesse horror a perdê-lo de vista, e dirigiu-se à porta.
Ele apanhou-a nos dois degraus e prendeu-lhe a mão no puxador. Margaret sentiu-lhe a respiração quente no pescoço. Ele encostou-se a ela para a pressionar contra a parede, depois largou-lhe a mão e apalpou-a mais abaixo, entre as pernas. Agarrou-a com força e puxou-a contra si. com a outra mão apalpou-lhe o seio esquerdo. Tudo aconteceu num segundo.
- Assim já não me vou esquecer - resmungou. Estranhamente Margaret não conseguia pensar senão no que ele
tinha feito com o cigarro que acendera? Tê-lo-ia na mão? Quereria queimá-la?
O ridículo da idéia numa altura em que a última coisa que aquela besta quereria era queimá-la, fez com que se tivesse sentido picada para se livrar do medo. Meteu-lhe o cotovelo nas costelas. Espetou-lhe o tacão da bota no meio de um pé. No momento em que ele a largou, empurrou-o para trás e saiu porta fora. Apeteceu-lhe ficar para lhe meter um joelho nos testículos - meu Deus, como desejara fazê-lo. Mas embora mais parecesse um tigre fêmea quando a enraiveciam, nunca fora idiota. Dirigiu-se ao carro.
Enquanto se dirigia para Lê Reposoir, sentiu a adrenalina percorrer-Lhe o corpo e a resposta à adrenalina era a raiva. Dirigia-a ao detestável ser humano que encontrara no Bouet. Como se atrevera... quem raio pensava ele... que tencionara... Podia tê-lo matado... Mas aquilo durou pouco tempo. Desapareceu assim que se apercebeu do que poderia ter acontecido, e essa idéia redirigiu a sua fúria para um destinatário mais adequado: o filho.
Ele não a tinha acompanhado. No dia anterior, deixara-a sozinha para tratar das coisas com Henry Moullin e fizera exactamente o mesmo naquela manhã. Acabara-se, decidira Margaret, acabara-se, meu Deus. Ia deixar de orquestrar a vida de Adrian sem a menor assistência ou sequer o menor agradecimento. Travara aquela batalha desde o dia em que ele nascera e agora acabara-se.
Chegada a Lê Reposoir, bateu com a porta do Range Rover e encaminhou-se rapidamente para a casa, cuja porta também bateu com toda a força. Os estrondos sublinhavam o monólogo que se desenvolvia na sua cabeça. Acabara. Estrondo. Ele que se arranjasse sozinho. Outro estrondo.
O tratamento dado à porta não teve qualquer repercussão dentro de casa, o que a pôs ainda mais furiosa, mais furiosa do que alguma vez pudesse imaginar. Assim, atravessou o antigo átrio de pedra com os saltos das botas a comporem uma música enraivecida. Quase voou escada acima até ao quarto de Adrian. A única coisa que a impedia de se atirar a ele era a preocupação de que se pudesse notar na sua pessoa aquilo por que acabara de passar e o medo de surpreender Adrian numa qualquer actividade solitária.
E talvez, pensou, fosse isso que tinha atraído Carmel Fitzgerald para os braços ansiosos do pai de Guy. Deveria ter assistido a algum dos terríveis métodos utilizados por Adrian para se acalmar quando estava sob pressão e, confusa, correra para Guy em busca de consolo e de uma explicação que Guy imediatamente se dispusera a dar-lhe.
O meu filho é muito estranho, não é exactamente aquilo que se poderia esperar de um verdadeiro homem, minha querida.
Oh, sim, tinha razão, pensou Margaret. A possibilidade de Adrian ser normal fugira-lhe das mãos. E a culpa fora do pai, o que enraivecia Margaret até mais não poder. Quando - meu Deus, quando - se transformaria o filho no homem que ela desejava?
No corredor do primeiro andar havia um espelho dourado por cima de uma cômoda de mogno e Margaret fez uma pausa para verificar o seu aspecto. Olhou para o peito como se esperasse encontrar lá a marca dos dedos nojentos do irmão Fielder sobre a sua camisola de caxemira amarela. Ainda sentia aquelas mãos. Ainda conseguia sentir o cheiro do hálito dele. Monstro. Cretino. Psicopata. Besta.
Chegada à porta do quarto de Adrian bateu duas vezes com força. Disse quem era, rodou o puxador e entrou. Ele estava na cama, mas não estava a dormir. Estava deitado com o olhar fixo na janela cuja cortina estava puxada para trás e o vidro, completamente aberto, deixava entrar o dia lá de fora.
Margaret sentiu um aperto no estômago e a raiva abandonou-a. Pensou que uma pessoa normal nunca se meteria na cama naquelas condições.
Margaret estremeceu. Dirigiu-se à janela e inspeccionou o parapeito e o chão lá em baixo. Voltou para a cama. Adrian tinha o edredão puxado até ao queixo e os vultos por baixo dele marcavam a sua posição na cama. Seguiu a topografia do filho da cabeça aos pés. Queria ver, disse para consigo. Queria saber o pior.
Ele não protestou quando ela lhe ergueu o edredão das pernas e lhe observou as solas dos pés em busca de marcas que revelassem que saíra naquela noite. As cortinas e a janela sugeriam que tinha tido um episódio. Nunca subira a um parapeito ou a um telhado a meio da noite, mas o seu subconsciente nem sempre era governado por aquilo que faziam, ou não, as pessoas racionais.
- Os sonâmbulos raramente se põem em perigo. - Haviam dito a Margaret. - Fazem de noite o que fariam de dia.
Era esse exactamente o problema.
Mas não havia vestígios de Adrian ter saído do quarto em vez de andar à volta dele. Riscou a crise de sonambulismo da lista de problemas psicológicos que o filho poderia ter sofrido e verificou a cama. Não fez qualquer esforço para ser delicada com ele, quando lhe meteu as mãos por baixo das ancas em busca de manchas húmidas nos lençóis e no colchão. Para seu grande alívio, não existiam. Assim, não se tratava de um coma acordado - era assim que chamava às descidas periódicas do filho a transes diurnos.
Dantes tratava essas coisas com delicadeza. Ele era o seu menino infeliz, o seu queridinho, tão diferente dos seus outros filhos fortes e bem-sucedidos, tão sensível a tudo o que se passava à sua volta. Acordava-o daquele estado crepuscular com suaves carícias nas faces. Massajava-lhe a cabeça até o acordar e trazia-o à realidade com doces murmúrios.
Mas agora não. O irmão Fielder tinha-lhe esgotado o leite da bondade maternal e da preocupação. Se Adrian tivesse ido com ela ao Bouet, nada daquilo se teria passado. Apesar de ser um homem completamente ineficaz, a presença de outro ser humano em casa dos Fielders - como testemunha, claro - teria impedido o assalto do irmão Fielder à sua pessoa.
Margaret agarrou numa ponta do edredão e arrancou-o de cima do filho. Atirou-o para o chão e puxou a almofada de debaixo da cabeça de Adrian.
- Já basta! - disse, ao vê-lo pestanejar. - Encarrega-te da tua vida. Adrian olhou para a mãe, depois para a janela e, de novo para a mãe,
logo a seguir para o edredão. Não estava a tremer de frio. Não se mexeu.
- Sai dessa cama! - gritou Margaret. Nessa altura Adrian acordou completamente.
- Eu... - perguntou referindo-se à janela.
- O que achas? Sim e não - disse Margaret referindo-se à janela e à cama. - Vamos contratar um advogado e quero que me acompanhes.
Dirigiu-se ao guarda-roupa e retirou de lá o roupão. Atirou-lho e fechou a janela enquanto esperava que ele saísse da cama.
Quando se voltou, ele observava-a. Pela expressão do filho, Margaret conseguiu perceber que ele já recuperara a lucidez e começava a reagir à sua invasão do quarto. Era como se a consciência da observação que ela fizera do seu corpo e daquilo que o rodeava lhe entrasse lentamente no espírito e compreendesse por fim o seu significado. Seria mais difícil tratar com ele mas Margaret sabia que levava sempre a melhor.
- Bateste à porta? - perguntou.
- Não sejas ridículo. O que é que achas?
- Responde!
- Não te atrevas a falar assim à tua mãe. Sabes pelo que já passei esta manhã? Sabes onde estive? Sabes porquê?
- Quero saber se bateste à porta.
- Olha para ti. Tens idéia da figura que estás a fazer?
- Não mudes de assunto. Tenho o direito...
- Sim. Tens o direito. E é isso que tenho estado a fazer desde o nascer do Sol. A tratar dos teus direitos. A tratar de os conseguir para ti. A tentar... e olha o agradecimento que recebo... meter algum juízo na cabeça das pessoas que te arrancaram os direitos das mãos.
- Quero saber...
- Pareces um menino de dois anos com uma birra. Pára com isso. Sim, bati à porta. com toda a força. E se pensas que tenciono ir-me embora e esperar que saias de um mundo de fantasia para onde te retiraste, desengana-te. Estou farta de trabalhar para ti quando tu não tens qualquer interesse em trabalhar para ti mesmo. Veste-te. Faz alguma coisa. Já! Ou acabou-se tudo.
- Então, acabou-se.
Margaret avançou para o filho, grata por ele ter herdado a estatura do pai e não a sua. Tinha mais cinco centímetros e aproveitou-se deles.
- És impossível. Derrotas-te a ti próprio. Tens idéia do pouco atraente que isso é? Do efeito que isso produz junto de uma mulher?
Ele dirigiu-se à cômoda, onde colocara um maço de cigarros. Tirou um e acendeu-o. Tragou profundamente o fumo e nada disse durante uns momentos. A indolência dos seus movimentos irritou-a a mais não poder.
- Adrian! - Margaret ouviu o seu próprio grito e sentiu o terror de sentir que a sua voz se parecia com a da mãe: aquela voz de mulher de limpeza, com tons de desespero e medo que tinham de ser escondidos por detrás da raiva. - Responde-me, que raio! Não aceito isto. Vim a Guernsey para assegurar o teu futuro e não tenciono ficar aqui e permitir que me trates como...
- Como o quê? - Adrian voltou-se para ela. - Como o quê? Como um móvel que se muda de sítio? Como tu me tratas?
- Eu não...
- Pensas que eu não sei o que se passa? O que sempre se passou? O que queres, o que planeaste.
- Como podes dizer uma coisa dessas? Trabalhei como uma escrava. Organizei as coisas. Mais de metade da minha vida esforcei-me para que a tua fosse uma coisa de que te pudesses orgulhar. Para que fosses igual aos teus irmãos e às tuas irmãs. Para fazer de ti um homem.
Não me faças rir. Trabalhaste para me transformar numa pessoa sem qualquer préstimo e agora trabalhas para te veres livre de mim. Pensas que eu não percebo? É disso que se trata. Desde que saíste daquele avião.
- Não é verdade. Pior ainda, estás a ser mau, ingrato e disposto a...
- Não. Vamos lá ver se nos entendemos quanto às razões de eu ter de adquirir aquilo que tenho direito a adquirir. Tu queres que eu receba o dinheiro para te veres livre de mim. "Nada de desculpas, Adrian. Agora é contigo."
- Não é verdade.
- Achas que eu não sei que sou um fracassado? Que sou um embaraço para ter por perto?
- Não digas isso a teu respeito. Nunca mais digas isso!
- com uma fortuna nas mãos, desaparecem as desculpas. Saio da tua casa e da tua vida. Até tenho dinheiro que chegue para me meter num manicômio, se for preciso.
- Quero que tenhas aquilo que mereces. Não vês isso, meu Deus?
- Vejo sim, mãe. Acredita que sim. Mas o que te leva a pensar que eu não tenho o que mereço? Já, mãe. Agora. Já.
- És filho dele.
- Sim. Exactamente. Filho dele. Adrian lançou-lhe um olhar duro. Margaret julgou que ele pudesse
estar a enviar-lhe uma mensagem e sentiu a intensidade da sua expressão. Pareceu-lhe que, de repente, se tinham tornado estranhos um ao outro, duas pessoas com passados até aí não relacionados, cujas vidas se tinham cruzado por acaso.
Mas havia uma certa segurança em sentir essa estranheza e esse distanciamento. Qualquer coisa mais correria o risco de encorajar que o impensável invadisse os seus pensamentos.
- Veste-te, Adrian - disse Margaret calmamente. - Vamos à cidade. Temos de contratar um advogado e não temos tempo a perder.
- Sou sonâmbulo - disse ele parecendo por fim um pouco perturbado. - Faço todo o tipo de coisas estranhas.
- Certamente não será preciso discutirmos agora esse assunto.
St. James e Deborah separaram-se depois da sua conversa no quarto do hotel. Ela buscaria a existência de outro anel alemão, como o que haviam encontrado na praia. Ele iria falar com os beneficiários do testamento de Guy Brouard. Os objectivos de ambos eram essencialmente os mesmos - uma tentativa de descobrir um motivo por trás do assassínio -, mas as suas abordagens seriam diferentes.
Depois de ter admitido para consigo próprio que os sinais evidentes de premeditação apontavam para toda a gente menos para os irmãos River, St. James deu a sua bênção para que Cherokee acompanhasse Deborah na sua visita a Frank Ouseley e à sua colecção de objectos da guerra. Pensando bem, ela estaria mais segura se acompanhada por um homem quando entrevistasse um assassino. Por seu lado, ele iria sozinho procurar os indivíduos mais afectados pelo testamento de Guy Brouard.
Começou com uma ida a La Corbière, onde encontrou a casa dos Moullin depois de uma curva num dos caminhos estreitos que serpenteavam pela ilha, entre sebes esqueléticas e muros de terra cobertos de hera e ervas altas. Conhecia apenas o nome do local em que viviam os Moullin - La Corbière - mas não foi difícil encontrar a casa. Deteve-se junto a uma quinta amarela à saída da pequena aldeia e pediu informações a uma mulher que, muito optimista, estendia roupa no ar húmido. "Olhe, querido, certamente anda à procura da Casa das Conchas", e apontou vagamente para leste. Que seguisse a estrada depois da curva que levava à praia, informou-o. Não podia falhar.
E de facto, assim foi.
Antes de entrar, St. James deteve-se no caminho a observar o terreno da residência dos Moullin. Franziu a testa perante o seu aspecto curioso. Um monte de conchas, arame e betão, onde parecia ter existido um bonito jardim. Ainda existiam alguns objectos a provarem como tinha sido o local. Um poço coberto de conchas estava intacto por baixo de um castanheiro e uma extravagante cadeira de estender feita de conchas e cimento, com uma almofada de conchas por cima e os dizeres O Paizinho sabe tudo composto com bocados de vidro azul. Tudo o resto tinha sido reduzido a cacos. Parecia que um vendaval de martelos pneumáticos assolara o terreno que rodeava a pequena casa atarracada.
Ao lado da casa, havia um celeiro de onde saía música. Frank Sinatra a cantar em italiano. Foi para lá que St. James se dirigiu. A porta do celeiro estava parcialmente aberta e, no interior, pôde ver as paredes caiadas e as lâmpadas fluorescentes que pendiam do tecto.
Lançou um cumprimento que ficou sem resposta. Deu um passo em frente e encontrou-se na oficina de um vidreiro, que parecia ser o local de fabrico de dois tipos de objectos completamente diferentes. Metade era destinada à preparação precisa de vidros de estufa. A outra à criação artística. Nesta secção havia um monte de sacos de produtos químicos junto a uma fornalha apagada. Encostados a eles viam-se os tubos de sopro e, nas prateleiras, estavam dispostas as peças decorativas e ricamente coloridas: enormes pratos colocados nos seus suportes, jarras estilizadas, esculturas modernas. Os objectos pareciam mais destinados a um restaurante Conran1 de Londres do que a um celeiro de Guernsey.
1 Cadeia de restaurantes ingleses, elegantes e cuja decoração é, em grande parte, feita de vidro. [N. da T. ]
St. James observou-os com alguma surpresa. O seu estado de conservação - impecáveis e perfeitamente limpos - fazia um enorme contraste com o estado da fornalha, dos tubos, e dos sacos de produtos químicos, sobre os quais havia uma camada de sujidade.
O próprio vidreiro parecia alheio à presença de outra pessoa. Trabalhava sobre uma enorme bancada no lado do celeiro dedicado à preparação dos vidros das estufas. Por cima dele encontrava-se o desenho de uma complicada estufa, ao lado do qual havia desenhos de projectos ainda mais elaborados. Enquanto fazia um corte rápido na folha transparente que estava colocada sobre a bancada, o homem não olhava para nenhum desses planos ou desenhos, mas sim para um simples guardanapo de papel onde estavam apontadas algumas medidas.
Aquele seria certamente Moullin, pensou St. James, o pai de um dos beneficiários de Brouard. Chamou o nome do homem, elevando o tom de voz. Moullin ergueu os olhos e retirou dos ouvidos os tampões de cera, o que explicava a razão por que não tinha ouvido St. James, mas não porque Sinatra lhe estava a fazer uma serenata.
Logo a seguir dirigiu-se à fonte da música - um leitor de CD - onde Frank cantava Luck Be a Lady Tonight. Moullin interrompeu-o a meiu. Pegou num toalhão com baleias a cuspir água e tapou o leitor de CD dizendo:
- Uso isto para que as pessoas saibam onde me encontrar, mas como me enerva, ponho os tampões nos ouvidos.
- Porque não usa uma música diferente?
- Não gosto de música, por isso tanto me faz. O que posso fazer por si?
St. James apresentou-se e entregou-lhe o cartão. Moullin leu-o e atirou-o para a bancada, para junto do guardanapo onde estavam os cálculos. Mostrou imediatamente uma expressão cautelosa. Tomara nota da profissão de St. James e não se inclinava a acreditar que um cientista forense de Londres tivesse vindo visitá-lo a pensar em construir uma estufa.
- Parece que o seu jardim sofreu alguns estragos - disse St. James. Nunca pensei que aqui houvesse problemas de vandalismo.
- Veio inspeccioná-lo? - perguntou Moullin. - É o que as pessoas como o senhor costumam fazer?
- Já telefonou à polícia?
- Não foi preciso. - Moullin retirou do bolso uma fita métrica de metal e mediu o vidro que acabara de cortar. Fez uma marca junto dos seus cálculos e encostou cuidadosamente o painel a uma dezena de outros que já estavam prontos. - Fui eu que o fiz. Já era mais que tempo.
- Estou a ver. Vai fazer melhorias na casa.
- Melhorias na vida. As minhas filhas começaram-no quando a minha mulher nos deixou.
- Tem mais do que uma filha? - perguntou St. James. Moullin pareceu reflectir sobre a pergunta antes de responder.
- Tenho três.
Voltou-se para agarrar noutra folha de vidro. Colocou-a na bancada e inclinou-se sobre ela, indicando que um homem não se deve distrair no seu trabalho. St. James aproveitou a oportunidade para o abordar. Olhou para o projecto e para os desenhos que estavam sobre a bancada. As palavras Yates, Dobree Lodge, Lê Vallon identificavam o local da complicada estufa. Viu que os outros desenhos eram janelas estilizadas. Pertenciam ao Museu da Guerra de G. O.
St. James observou o trabalho de Henry Moullin antes de dizer mais alguma coisa. Era um homem de grande envergadura, forte e bem constituído. Tinha mãos musculosas, o que era evidente até mesmo por baixo dos adesivos que as cruzavam ao acaso.
- Estou a ver que se cortou - disse St. James. - Devem ser ossos do ofício.
- É verdade. - Moullin cortou o vidro e depois repetiu a acção com uma técnica que desmentia a sua última afirmação.
- O senhor faz janelas e estufas?
- Os projectos mostram-no. - Ergueu a cabeça em direcção aos desenhos. - Se for de vidro, faço-o, senhor St. James.
- Foi assim que o senhor Brouard reparou em si?
- Talvez.
- Tencionava fazer as janelas do museu? - St. James apontou para os desenhos colocados na parede. - Ou tencionava apenas propor o projecto ao senhor Brouard?
- Fazia todos os trabalhos de vidro para os Brouard - respondeu Moullin. - Desmontei as estufas originais, construí o jardim de inverno, substituí as janelas da casa. Como já lhe disse, se for de vidro faço-o. Por isso aconteceria o mesmo com o museu.
- Mas o senhor não pode ser o único vidreiro da ilha, com tantas estufas que já vi. Seria impossível.
- Não sou o único - reconheceu Moullin. - Sou o melhor. Os Brouard sabiam-no.
- Seria assim a pessoa mais indicada para utilizarem no museu da guerra.
- Pode dizê-lo.
- Parece-me que, afinal, ninguém sabia qual seria a arquitectura exacta do edifício. Até à noite da festa. E o senhor já tinha feito desenhos, antecipadamente... Estavam adequados ao arquitecto da ilha? Vi a maqueta. Os seus desenhos parecem adequar-se ao projecto.
Moullin deu baixa de outro item na lista que tinha feito no guarda- * napo de papel e disse: "
- Veio cá para falarmos de janelas?
- Foi só uma, porquê? - perguntou St. James.
- Uma quê?
- Filha. Cynthia Moullin. O senhor tem três, mas o Brouard só se lembrou de uma no testamento. É a sua... quê? A mais velha?
Moullin pegou noutra folha de vidro e fez-lhe dois cortes. Usou a fita métrica para confirmar o resultado e disse:
- A Cyn é a minha filha mais velha.
- Tem idéia da razão por que ele a escolheu? A propósito, que idade tem ela?
- Dezassete.
- Já acabou a escola?
- Está a estudar em St. Peter Port. Ele sugeriu que ela fosse para a universidade. É bastante inteligente, mas aqui não há nada disso. Precisava de ir para Inglaterra e ir para Inglaterra custa dinheiro.
- E julgo que o senhor não tinha. Nem ela.
Até de morrer foi a frase que ficou pendente entre os dois como o fumo de um cigarro invisível.
- Claro. Era uma questão de dinheiro. Somos uns felizardos. Moullin voltou-se para St. James. - Só quer saber isso, ou há mais alguma coisa?
- Já pensou por que razão apenas uma das suas filhas foi contemplada no testamento?
- Não há nenhuma.
- Certamente que as suas outras duas filhas gostariam de continuar a estudar.
- É verdade.
- Então...
- Ainda não estavam na idade. Ainda não podem ir para a universidade. Tudo no seu devido tempo.
Esta observação era tão pouco lógica depois do que Moullin tinha sugerido que St. James a aproveitou.
- Mas o senhor Brouard não estava à espera de morrer, pois não? Aos sessenta e nove anos não era um jovem mas, segundo sei, estava em boa forma física, não é assim? - Não esperou pela resposta de Moullin. - Por isso, se o Brouard queria que a sua filha mais velha fosse educada com o dinheiro que ele lhe ia deixar... quando pensaria ele que ela deveria ser educada? Poderia só ter morrido daqui a vinte anos. Ou mais.
- A menos que nós o matássemos, não é verdade? - disse Moullin. Ou não é isso que o senhor está a querer dizer?
- Onde está a sua filha, senhor Moullin?
- Ora, ora, ela só tem dezassete anos.
- Então está cá? Posso falar com...
- Está em Alderney.
- A fazer o quê?
- A tomar conta da avó. Ou a esconder-se dos polícias. Veja as coisas como quiser. Não me importo. - Voltou ao trabalho, mas St. James reparou que uma veia lhe latejava na testa e que não foi tão preciso quando fez o corte seguinte na folha de vidro. Murmurou uma praga e deitou os bocados estragados na lata do lixo.
- Não se podem cometer muitos erros no seu trabalho - comentou St. James. - Parece-me que acabam por ficar muito caros.
- Pois, mas o senhor está a distrair-me, não é verdade? - retorquiu Moullin. - Por isso, se não quer mais nada, tenho de trabalhar e prazos a cumprir.
- Percebo por que razão o senhor Brouard deixou dinheiro a um rapaz chamado Paul Fielder - disse St. James. - Brouard era mentor dele, por intermédio de uma organização estabelecida na ilha. A GAYT. Ouviu falar? Assim tinham uma razão formal para a sua relação. Foi também assim que a sua filha o conheceu?
- A Cyn não tinha qualquer relação com ele - disse Henry Moullin.
- Através do GAYT ou de outra coisa qualquer. - E apesar das suas palavras anteriores, decidiu não trabalhar mais. Começou a arrumar os seus instrumentos cortantes e as medidas nos lugares apropriados e agarrou numa vassoura para limpar a bancada de trabalho dos minúsculos fragmentos de vidro. - Ele tinha os seus caprichos e foi o que aconteceu com a Cyn. Um capricho hoje, outro amanhã. Posso fazer isto, posso fazer aquilo, posso fazer tudo o que quiser porque, se me apetecer, tenho dinheiro para fingir que sou o Pai Natal que chegou a Guernsey. A Cyn teve sorte. Foi como o jogo das cadeiras, ela estava no sítio certo quando a música parou. Foi assim. Ele conhecia-a melhor do que às outras raparigas porque ela ia comigo quando eu estava a trabalhar. Ou ia lá visitar a tia.
- A tia?
- Vai Duffy. A minha irmã. Ajuda-me com as miúdas.
- Como?
- O que quer dizer com isso de como? - perguntou Moullin e era evidente que o homem estava a chegar aos seus limites. - As raparigas precisam de uma mulher nas suas vidas. Quer que lhe explique porquê, ou consegue descobrir sozinho? A Cyn ia lá e as duas conversavam. Coisas de mulheres, percebe?
- Mudanças físicas? Problemas com os namorados?
- Não sei. Não me meto nessas coisas. Dei graças a Deus por Cyn ter uma mulher com quem falar e por essa mulher ser a minha irmã.
- A sua irmã avisá-lo-ia se alguma coisa não estivesse bem?
- Estava tudo bem.
- Mas ele tinha os seus caprichos.
- O quê?
- O Brouard. O senhor disse que ele tinha os seus caprichos. A Cynthia seria um deles?
O rosto de Moullin ficou escarlate. Avançou em direcção a St. James.
- com um raio, eu devia... - deteve-se com algum esforço. - Estamos a falar de uma miúda - disse. - Não de uma mulher feita.
- Há muitos velhos que gostam de miúdas.
- Está a distorcer as minhas palavras.
- Então explique-mas.
Moullin reflectiu durante um momento. Recuou. Olhou para o outro lado do aposento para as suas peças artísticas.
- Tal como lhe disse, ele tinha os seus caprichos. Quando uma coisa atraía a sua atenção, lançava-lhe pozinhos mágicos. Tornava essa coisa especial. Depois era outra coisa que lhe chamava a atenção e passava para ela os seus pozinhos mágicos. Era assim e pronto.
- Os pozinhos mágicos eram dinheiro? Moullin abanou a cabeça.
- Nem sempre.
- Então o que era?
- Fé - disse ele.
- Que espécie de fé?
- Fé na própria pessoa. Era muito bom nisso. O problema era que uma pessoa punha-se à espera de qualquer coisa.
- De dinheiro?
- De uma promessa. De alguém que dissesse, "É assim que vou ajudar-te se trabalhares o suficiente, mas tens de fazer isto primeiro..." O trabalho difícil e depois logo se via. Só que nunca ninguém disse isso. A idéia ficava plantada no espírito das pessoas.
- No seu também?
- No meu também - respondeu Moullin com um sorriso.
St. James reflectiu sobre o que soubera a respeito de Guy Brouard, sobre os seus segredos, sobre os seus projectos para o futuro, sobre o que cada indivíduo parecia ter acreditado acerca desse homem e dos projectos em questão. Talvez, pensou St. James, esses aspectos do defunto que, de contrário poderiam ter sido apenas reflexos do capricho de um rico empresário, fossem sintomas de um comportamento muito mais prejudicial: um bizarro jogo de poder. Nesse jogo, um homem influente, que deixara as rédeas de um bem-sucedido negócio, retinha uma forma de controlar os indivíduos e exercia essa forma de controlo como último objectivo do seu jogo. As pessoas tinham-se transformado em peças de xadrez e o tabuleiro era a sua vida. O principal jogador era Guy Brouard.
Seria o suficiente para levar uma pessoa a matar?
St. James calculou que a resposta a essa pergunta seria o que cada pessoa realmente fizera como resultado da fé que Brouard depositara nela. Olhou em redor do celeiro e viu a resposta nas peças de vidro diligentemente cuidadas e na fornalha e nos tubos de sopro abandonados.
- Suponho que ele o tenha feito acreditar na sua arte - comentou. Foi isso que aconteceu? Encorajou-o a viver o seu sonho?
Moullin dirigiu-se bruscamente para a porta do celeiro e desligou as luzes, ficando enquadrado pelo dia lá fora. Era uma figura imponente, delineada, não só pela roupa larga que usava, mas também pela sua força brutal. St. James não teve dúvida de que ele teria toda a facilidade em destruir o trabalho das filhas no jardim.
Seguiu-o. Lá fora, Moullin atirou com a porta do celeiro e enfiou-lhe um enorme cadeado.
- Fazia com que as pessoas pensassem que valiam mais do que realmente valem. Se elas se decidiam a dar passos que poderiam não dar sem que ele as incentivasse... bom, suponho que seria com elas. Ninguém tinha nada com isso, se queriam correr esse risco.
- Geralmente, as pessoas não correm riscos assim sem terem alguma esperança do êxito das suas empresas - disse St. James.
Henry Moullin olhou para o jardim onde o pó das conchas esmagadas cobria a relva como se fosse neve.
- Ele tinha boas idéias. Tinha-as e oferecia-as. Nós acreditávamos nele.
- Já conhecia os termos do testamento do senhor Brouard? - perguntou St. James. - A sua filha sabia?
- Quer saber se o matámos? Se o apagámos antes que mudasse de idéias? - Pegou num enorme molho de chaves e caminhou em direcção à casa, esmagando a gravilha e as conchas com os pés. St. James caminhou a seu lado, não porque esperasse que Moullin se estendesse sobre o assunto, mas porque vira uma coisa por detrás das chaves e queria ter a certeza de que era o que pensava.
- Conhecia os termos do testamento? - perguntou.
Moullin não respondeu senão quando chegou ao alpendre e meteu a chave na fechadura. Voltou-se para responder.
- Não sabíamos de nada a respeito de testamento algum - disse Moullin. - Muito bom dia.
Voltou-se para a porta e entrou, fazendo estalar a fechadura nas suas costas. Mas St. James tinha visto aquilo que queria. Uma pequena pedra furada estava pendurada no porta-chaves de Henry Moullin.
St. James afastou-se da casa. Não acreditava que Henry Moullin lhe tivesse dito tudo o que sabia, mas não podia insistir mais. Mesmo assim, deteve-se por uns instantes no caminho que levava à Casa das Conchas; as cortinas corridas para que a luz não entrasse, a porta fechada à chave, o jardim destruído. Imaginou o que significava ter caprichos. Reflectiu sobre a influência que uma pessoa teria sobre outra se lhe conhecesse intimamente os sonhos.
Enquanto ali estava, sem particularmente se concentrar em nada, chamou-lhe a atenção um movimento vindo da casa. Observando melhor, apercebeu-se de que viera de uma pequena janela.
Lá dentro de casa uma figura fechava a cortina que abrira. Mas não antes de St. James ver uma silhueta de cabelos louros. Noutras circunstâncias, pensaria que se tratava de um fantasma. Mas o corpo muito real de uma mulher, também ela real, foi iluminado por breves momentos pela luz do quarto.
Capítulo 18
PAUL FIELDER FICOU EXTREMAMENTE ALIVIADO AO VER QUE VALERIE Duffy atravessava a relva para vir ter com ele. Trazia o casaco preto a adejar à sua volta dela enquanto corria e o facto de não o ter abotoado era sinal de que estava do lado dele.
- Olhe lá - gritou para o agente da polícia que agarrara Paul pelos ombros. - O que está a fazer? É o nosso Paul. É cá de casa.
- Então por que razão não se identifica? - O agente tinha bigode de morsa. Paul observou que ficara com um resto dos cereais do pequeno-almoço pendurado nos pêlos que estremeciam sempre que ele falava. Paul olhava fascinado para aquele pequeno floco que balançava para trás e para a frente como um alpinista pendurado de um perigoso penhasco.
- Estou a dizer-lhe quem ele é - disse Valerie Duffy. - Chama-se Paul Fielder e é cá de casa. Pára com isso, Taboo. Solta o homem mau.
- Pegou na coleira do cão e arrastou-o da perna do guarda.
- Devia prender-vos aos dois por desacato à autoridade. - O homem libertou Paul com um empurrão que o lançou contra Valerie, o que provocou novos latidos em Taboo.
Paul pôs-se de joelhos junto ao cão e enfiou o rosto no pêlo mal-cheiroso do pescoço do animal. Taboo deixou então de ladrar. Mesmo assim, continuou a rosnar.
- Para a próxima - disse o homem do bigode de morsa - identificas-te quando falarem contigo, rapaz. Senão, vais parar à pildra enquanto o diabo esfrega um olho... e esse cão é abatido. E deveria ser, por aquilo que fez. Olha para as minhas calças. Fez-lhes um buraco, estás a ver? Podia ter sido na perna. Na carne, rapaz. Podia ter feito sangue. Ele tem as vacinas em dia? Onde estão os papéis? Quero que mos mostres imediatamente.
- Não sejas idiota, Trev Addison - disse Valerie com voz ríspida. Sim, sei muito bem quem tu és. Andei na escola com o teu irmão. E tu também sabes, tal como eu, que ninguém anda com os papéis do cão no bolso. Apanhaste um susto e o rapaz também. Para não falar do cão. Vamos deixar as coisas como estão e não piorá-las.
Paul viu que o guarda se acalmou ao ouvir o seu nome, porque olhou para Paul, para o cão e para Valerie e depois endireitou o uniforme e sacudiu as calças.
- Nós recebemos ordens.
- Claro - respondeu Valerie. - E nós queremos que vocês as cumpram. Mas vem comigo que eu arranjo-te as calças. Posso tratar disso num instante e esquecemos o resto.
Trev Addison olhou para a beira do caminho onde um dos seus colegas afastava os arbustos e se curvava para realizar o seu trabalho. Era uma tarefa cansativa e quem quer que pudesse descansar dez minutos, teria saltado de alegria.
- Não sei se devo... - disse com relutância.
- Anda lá - disse Valerie. - Podes beber uma chávena de chá.
- Num instante, disseste?
- Tenho dois filhos crescidos, Trev. Posso arranjar umas calças mais depressa do que bebes o chá.
- Pois então, muito bem - disse ele. - E tu - disse voltando-se para Paul -, vê lá se não te metes no caminho, ouviste? A polícia ainda está a trabalhar aqui.
- Vai à cozinha da casa grande - disse Valerie a Paul - e faz um cacau para ti. Também há lá bolachas de gengibre acabadas de fazer. Acenou com a cabeça e partiu pela relva com Trev Addison atrás dela.
Paul esperou como se estivesse pregado ao chão, até eles terem desaparecido dentro da casa dos Duffys. Descobriu que tinha o coração a bater muito acelerado e encostou a cabeça ao lombo de Taboo. O cheiro do cão, almiscarado e húmido, era-lhe tão agradável e familiar como o toque da mão da mãe no rosto, quando era pequeno e tinha febre.
Quando por fim o seu coração acalmou, ergueu a cabeça e esfregou a cara. Na altura em que fora agarrado pelo polícia, a mochila caíra-lhe dos ombros e estava agora no chão toda amarfanhada. Pegou nela e dirigiu-se à casa.
Foi pelas traseiras, como era seu costume. Havia por ali muita actividade. Paul nunca vira tantos polícias num só local - excepto nos filmes da televisão - e deteve-se junto do jardim de inverno para ver se percebia o que eles estavam a fazer. Uma busca, sem dúvida, isso percebia. Mas não conseguia imaginar o que procuravam. Parecia-lhe que alguém deveria ter perdido uma coisa valiosa no dia do funeral, quando todos tinham regressado a Lê Reposoir para o serviço fúnebre e depois para a recepção. No entanto, embora essa idéia lhe parecesse provável, o que já não lhe parecia provável era que metade da força policial andasse à procura dessa coisa. Teria de pertencer a alguém extremamente importante e a pessoa mais importante da ilha era aquela que tinha morrido. Senão, quem mais... Paul não sabia nem imaginava. Entrou em casa.
Utilizou a porta do jardim de inverno, que nunca estava fechada à chave. Taboo seguia-o, arranhando com as unhas os ladrilhos do chão da estufa. Lá dentro estava um agradável calor húmido e os pingos de água do sistema de irrigação tinham qualquer coisa de hipnótico; Paul gostaria de se sentar ali e ficar uns momentos à escuta mas não podia porque lhe tinham dito que fosse fazer o cacau. E, sobretudo quando se tratava de Lê Reposoir, Paul gostava de fazer o que lhe mandavam. Era assim que continuava a ter o privilégio de entrar e sair na propriedade, sempre que queria. Um privilégio que muito prezava.
Porta-te bem comigo e eu porto-me bem contigo. É o que é importante, meu Príncipe.
Mais uma razão para que Paul soubesse o que deveria fazer. Não só no que dizia respeito ao cacau e às bolachas de gengibre mas também no que dizia respeito à herança. Os pais tinham ido ter com ele ao quarto depois da saída do advogado e tinham batido à porta.
- Paulie - dissera o pai. - Vamos precisar de falar disto.
- És um rapaz muito rico, meu querido. Pensa no que poderás fazer com tanto dinheiro - declarara a mãe.
Ele deixara entrar os pais que tinham conversado com ele e um com o outro, mas embora tivesse visto o movimento dos seus lábios e ouvido uma ou outra palavra, já sabia o que teria de fazer. E para isso, iria directamente para Lê Reposoir.
Perguntou a si próprio se Miss Ruth estaria em casa. Nem pensara em ver se o carro dela estava lá fora. Era ela a pessoa que viera visitar. Se não estivesse, esperaria por ela.
Atravessou o átrio de pedra para se dirigir à cozinha, passou uma porta e outro corredor. A casa estava silenciosa, embora o ranger do chão lá em cima lhe dissesse que provavelmente Miss Ruth estava em casa. Contudo, sabia que não devia andar pela casa das pessoas à procura delas, mesmo que tivesse vindo vê-las em especial. Por isso, quando chegou à cozinha, entrou de cabeça baixa. Beberia o cacau e comeria as bolachas, e quando terminasse, já Valerie lá estaria para o acompanhar lá a cima.
Paul estivera na cozinha de Lê Reposoir vezes suficientes para saber onde estava tudo. Meteu Taboo debaixo da bancada no meio da divisão, colocou a mochila junto do animal para que ele encostasse a cabeça e foi à despensa.
Era um lugar mágico como o resto de Lê Reposoir, cheio de cheiros que não sabia identificar, bem como de caixas e latas de comida de que nunca ouvira falar. Adorava quando Valerie o mandava à despensa para ir buscar alguma coisa enquanto ela cozinhava. Gostava sempre de prolongar a experiência o mais possível, inalando a mistura de extractos, especiarias, ervas e outros ingredientes. Aquilo levava-o a um ponto do universo completamente diferente daqueles que ele conhecia.
Demorou-se algum tempo. Abriu uma fila de frascos e cheirou-os um por um. Baunilha, leu no rótulo. Laranja, amêndoa, limão. As fragrâncias eram tão pesadas que, quando as inalou, sentiu o cheiro alojar-se-lhe por detrás dos olhos.
Passou das essências às especiarias, começando pela canela. Quando chegou ao gengibre, tomou uma pitada mais pequena do que a ponta do dedo mindinho, colocou-a na língua e sentiu crescer-lhe água na boca. Sorriu e passou para a noz-moscada, para os cominhos, depois para o caril e para o cravinho. A seguir vieram as ervas, os vinagres e, por fim, os azeites. E depois passou à farinha, ao açúcar, ao arroz e ao feijão. Pegou nas caixas e leu os rótulos. Encostou a face aos pacotes de massa e esfregou contra a pele as embalagens de celofane. Nunca vira tanta abundância como ali. Era fantástico.
Por fim, saciado de prazer, suspirou e pegou na lata do cacau. Levou-a para a bancada e foi buscar o leite ao frigorífico. Retirou uma caçarola de cima do fogão, mediu cuidadosamente uma caneca de leite, nem mais uma gota e ainda com mais cuidado despejou-o na caçarola e levou-o ao lume para aquecer. Aquele era o primeiro momento em que lhe tinham permitido utilizar a cozinha e queria que Valerie Duffy se orgulhasse da diligência dele ao utilizar aquele raro privilégio.
Acendeu o fogão e procurou uma colher para medir o cacau. As bolachas de gengibre estavam sobre a bancada, a arrefecerem na rede depois de terem saído do forno. Pegou numa e deu-a ao cão. Agarrou em duas para si e meteu uma na boca. A outra queria saboreá-la com o cacau.
Algures dentro de casa, soou um relógio. Como que a acompanhá-lo ouviram-se passos no corredor mesmo por cima dele. Abriu-se uma porta, acendeu-se uma luz e alguém começou a descer as escadas das traseiras em direcção à cozinha.
Paul sorriu. Miss Ruth. Na ausência de Valerie, vira-se obrigada a vir buscar o seu café de meio da manhã. E ele estava pronto, fumegante na cafeteira de vidro. Paul pegou noutra caneca, numa colher e no açúcar, aprontando tudo. Imaginava a conversa que se seguiria: os olhos dela redondos de surpresa, os seu lábios em forma de O murmurando: "Paul, meu querido menino", quando se apercebesse do que ele pretendia fazer.
Curvou-se e retirou a mochila da cabeça de Taboo. O cão ergueu os olhos e voltou as orelhas na direcção da escada. Um rosnar baixo começou-lhe na garganta. Seguiu-se um ganido, depois um latido completo. Alguém disse nas escadas, "Mas que diabo..."
A voz não pertencia a Miss Ruth. Uma mulher do tipo viking entrou. Viu Paul e perguntou-lhe
- Mas quem raio és tu? Como entraste? Que estás aqui a fazer? Onde está a senhora Duffy?
Eram tantas perguntas de uma só vez e Paul fora apanhado com uma bolacha de gengibre na mão. Sentiu os olhos arredondarem-se-lhe de espanto, como teria acontecido aos de Miss Ruth, e as sobrancelhas erguerem-se-lhe na testa. No mesmo instante, Taboo saiu de debaixo da mesa, ladrando como um Doberman e mostrando os dentes. Tinhas as patas afastadas e as orelhas puxadas para trás. Não gostava de pessoas que falavam num tom zangado.
A mulher viking recuou. Taboo avançou para ela antes que Paul conseguisse deitar-lhe a mão à coleira.
- Tira-o daqui! Tira-o. Raios, tira-o daqui! - gritava como se pensasse que o cão queria realmente fazer-lhe mal.
Os gritos dela faziam com que Taboo ladrasse ainda mais. E naquele momento o leite que estava ao lume veio por fora.
Foi demasiado - o cão, a mulher, o leite, a bolacha na sua mão que parecia ter sido roubada, mas não fora porque Valerie lhe dera autorização para comer uma e mesmo que tivesse tirado três, mais duas do que o que ela tinha dito, não tinha a mínima importância, não era um crime.
Fssshhhh. O leite espumava para o queimador do fogão por baixo da caçarola. O odor do leite em contacto com o calor ergueu-se no ar como o vôo de um pássaro. Taboo ladrava. A mulher gritava. Paul mais parecia um pilar de betão.
- Seu estúpido! - A voz da mulher viking parecia metal a raspar sobre metal. - Não fiques aí, por amor de Deus! E o leite queimava-se atrás dele. Ela encostou-se à parede. Voltou a cabeça como se não quisesse ver a sua destruição aos dentes de um animal que estava afinal mais assustado do que ela, mas em vez de desmaiar ou de tentar fugir começou a gritar: "Adrian! Adrian! Por amor de Deus, Adrian!", e como a atenção da mulher se desviara dele e do cão, sentiu as pernas descongelarem e pôde movimentar-se por si.
Avançou e agarrou em Taboo, deixando cair a mochila no chão. Puxou o cão para o pé do fogão e mexeu nos botões para apagar o lume por baixo do leite. Entretanto, o cão continuava a ladrar, a mulher ainda gritava e alguém descia as escadas a toda a pressa.
Paul retirou a caçarola do fogão para a levar para o lava-loiça, mas com uma mão no animal que tentava escapar, não conseguiu equilibrar-se devidamente. Largou a pega, o leite a ferver espalhou-se no chão e Taboo voltou para onde estava: a uns centímetros da mulher viking, com ar de quem queria comê-la ao almoço. Paul foi atrás dele para o puxar, mas Taboo continuava a ladrar como um demônio.
Adrian Brouard entrou na cozinha de rompante. Ouviu-se a sua voz no meio da confusão.
- Mas que diabo... Tabool Basta! Está calado!
- Conheces esta criatura? - exclamou a mulher viking. Paul não teve a certeza se ela falava dele ou do cão.
Não que isso tivesse importância, porque Adrian Brouard conhecia-os a ambos.
- Este é o Paul Fielder, o amigo do pai...
- Isto? - A mulher voltou-se para Paul. - Este nojento... - Parecia não encontrar um termo que definisse o intruso na cozinha.
- Isto - disse Adrian. Descera apenas com as calças de pijama vestidas e de chinelos, como se tivesse sido apanhado no acto de se vestir para, por fim, começar o dia. Paul perguntou a si próprio como seria possível não estar já a fazer qualquer coisa àquela hora da manhã.
Aproveita o dia, meu Príncipe. Nunca se sabe se haverá outro.
Paul sentiu os olhos marejados de lágrimas. Conseguia ouvir a voz dele. Conseguia sentir a presença dele como se tivesse acabado de entrar ali na cozinha. Teria resolvido o problema num instante. Uma mão sobre o Taboo, outra sobre Paul e "então o que se passa aqui?", na sua voz calma.
- Manda calar esse animal - disse Adrian a Paul embora os latidos de Taboo se tivessem transformado em rosnadelas. - Se ele morde na minha mãe, arranjas um sarilho.
- Um sarilho maior do que aquele em que já estás - disse furiosa, a mãe de Adrian. - Deixa-me dizer-te que não é pequeno. Onde está a senhora Duffy? Foi ela que te deixou entrar? - E depois gritou. - Valerie! Valerie Duffy, venha cá imediatamente.
Taboo não gostava de gritos mas a estúpida mulher não se tinha apercebido. Assim que levantou a voz ele começou a ladrar. Não podia fazer outra coisa senão afastá-lo da cozinha, mas seria impossível Paul fazê-lo e ao mesmo tempo limpar a porcaria e apanhar a mochila. Sentiu os intestinos soltos com a ansiedade. Sentiu o cérebro. Sabia que, dentro de momento, explodiria pelos dois lados e aquilo foi o suficiente para o obrigar a decidir-se.
Por trás dos Brouard um corredor estendia-se até à horta. Paul começou a puxar Taboo nessa direcção enquanto a mulher viking dizia.
- Nem penses sair daqui sem limpar esta porcaria, meu sapo!
Taboo rosnou. Os Brouard afastaram-se. Paul conseguiu fazer passar o animal sem mais latidos - apesar dos guinchos da mulher viking: "Volta aqui imediatamente!" - e empurrou o cão para dentro da horta que não tinha nada plantado. Fechou-lhe a porta, embora lhe doesse o coração ao ouvir os seus ganidos de protesto.
Paul sabia que o cão só o queria proteger. Também sabia que uma pessoa sensata o teria compreendido. Mas neste mundo não se podia esperar que as pessoas fossem sensatas. Esse facto tornava-os perigosos porque ficavam assustados e traiçoeiros.
Tinha de se afastar deles. Sabia que Miss Ruth não deveria estar em casa, de contrário teria vindo ver o que acontecera. Teria de voltar quando fosse seguro fazê-lo. Mas não poderia deixar atrás de si vestígios daquele desastroso encontro com os outros Brouard. Não seria correcto.
Voltou à cozinha mas deteve-se à porta. Viu que, apesar das suas palavras, a mulher viking e Adrian estavam ainda a limpar o chão e o fogão. Contudo ainda pairava no ar o cheiro do leite queimado.
- um fim a todo este absurdo - dizia a mãe de Adrian. - vou resolver tudo e ele vai ouvir falar de mim. Se pensa que pode entrar aqui sem autorização... como se não fosse aquilo que parece, um bocado de trampa...
- Mãe! - Paul apercebeu-se de que Adrian o vira à porta e chamara a tenção da mulher viking. Esta estivera a limpar o fogão, mas agora estava com o pano nas mãos e amarfanhava-o com os seus dedos gordos e cobertos de anéis. Olhou-o da cabeça aos pés com um ar de tanto desagrado que Paul sentiu um arrepio e apercebeu-se que teria de sair dali. Mas não iria partir sem a sua mochila onde estava a mensagem sobre o plano e o sonho.
- Podes informar os teus pais de que vamos contratar um advogado por causa desse assunto do testamento - disse-lhe a mulher viking. - Se a tua imaginação te deixou acreditar que vais ficar com um centavo que seja do dinheiro do Adrian, desengana-te. Tenciono combater em todos os tribunais e, nessa altura, quando eu terminar, o dinheiro do pai do Adrian com que tinhas planeado ficar, terá desaparecido. Percebeste? Não hás-de ganhar. Agora desaparece. Não te quero voltar a ver. Se isso acontecer queixo-me à polícia. E vou mandar abater o teu rafeiro.
Paul não se mexeu. Não sairia dali sem a mochila, mas não sabia como haveria de a apanhar. Encontrava-se no mesmo sítio para onde ele a tinha atirado, junto à perna da mesa, no meio da cozinha. Mas os dois Brouard estavam no caminho. E a proximidade deles era um perigo para si.
- Ouviste? - perguntou a mulher viking. - Disse-te que te pusesses a andar. Não tens aqui amigos embora penses que sim. Não és bem-vindo a esta casa.
Paul viu que a maneira de chegar à mochila era meter-se debaixo da mesa, por isso foi o que fez. Antes que a mãe de Adrian acabasse o que estava a dizer, pôs-se de gatas no chão e aproximou-se rapidamente da mochila como se fosse um caranguejo.
- Onde é que ele vai? - perguntou ela. - O que está a fazer? Adrian pareceu aperceber-se das intenções de Paul. Agarrou na mochila no mesmo momento que os dedos de Paul se fechavam sobre ela.
- Meu Deus, essa besta roubou alguma coisa cá de casa! - gritou a mulher viking. - Isto já é de mais. Adrian, apanha-o!
Adrian tentou. Mas todas as imagens que a palavra roubou havia plantado no cérebro de Paul - a mochila revistada, a descoberta, as perguntas, a polícia, uma cela, a preocupação, a vergonha - deram-lhe uma força que nem ele sabia que possuía. Puxou com tanta força que Adrian se desequilibrou. O homem caiu de frente para cima da mesa, caiu de joelhos e bateu com o queixo na madeira. A mãe gritou, o que deu a Paul a abertura necessária. Puxou a mochila para si e pôs-se de pé num salto.
Partiu disparado na direcção do corredor. A horta tinha um muro, mas a porta dava para o terreno da propriedade. Ele conhecia esconderijos em Lê Reposoir que os Brouard nem sonhavam, por isso sabia que, se conseguisse lá chegar, estaria em completa segurança.
Enquanto se afastava, ouvia os gritos da mulher viking.
- Querido, estás bem? - E depois: - Vai atrás dele, por amor de Deus! Apanha-o, Adrian. -
Mas Paul era mais rápido do que a mãe e o filho. A última coisa que ouviu foi "Ele tem qualquer coisa naquele saco!" Depois a porta fechou-se atrás de si e fugiu com Taboo em direcção à grade do jardim.
Deborah ficou surpreendida com Talbot Valley. Parecia um vale em miniatura transportado do Yorkshire, onde ela e Simon tinham passado a lua-de-mel. Muitos anos antes um rio tinha-o cruzado e um dos lados consistia numa verde encosta ondulada onde o gado castanho-claro da ilha pastava, abrigado por bosques de carvalhos da luz do Sol e do mau tempo. A estrada atravessava o outro lado, uma encosta íngreme, mantida dentro de muros de granito. Junto a eles cresciam reixos e ulmeiros e, logo a seguir, a terra elevava-se numa colina de pastagens. A zona era diferente do resto da ilha tal como acontecia com o Yorkshire e com os South Downs.
Procuraram um pequeno caminho chamado Lês Niaux. Cherokee tinha quase a certeza do sítio onde era, pois já lá tinha ido. Mesmo assim, abrira um mapa sobre os joelhos e servia de navegador. Quase passou o local, mas conseguiu gritar a tempo "Aqui! Vira!" quando chegaram a uma abertura numa sebe.
- Valha-me Deus - disse -, estas ruas parecem a rampa que vai da rua à nossa casa, lá na América.
Chamar rua ao atalho pavimentado era dar-lhe mais do que a merecida importância. Saía da estrada principal como se se dirigisse para outra dimensão, definida por arbustos frondosos, humidade e a visão da água a passar pelas fendas dos pedregulhos próximos. A menos de cinqüenta metros, apareceu à direita uma velha azenha. Ficava a pouca distância da estrada, encimada por uma pequena represa de onde pendia a vegetação.
- É aqui - disse Cherokee dobrando o mapa e guardando-o no porta-luvas. - Vivem na última casa. O resto... - apontou para as habitações por onde passavam enquanto Deborah metia o carro num pátio enorme diante da azenha - serve para ele guardar os objectos da guerra.
- Deve ter muita coisa - disse Deborah, pois havia mais duas casas ao lado daquela que Cherokee dissera ser a de Frank Ouseley.
- Nem fazes uma pequena idéia - replicou Cherokee. - Aquele é o carro do Ouseley. Parece que estamos com sorte.
Deborah sabia que bem precisariam. A presença de um anel na praia em que Guy Brouard tinha morrido - idêntico ao que China havia comprado e que parecia não estar entre aquilo que lhe pertencia - não ajudava a causa da sua alegada inocência. Ela e Cherokee precisavam que Frank Ouseley reconhecesse a descrição desse anel. Precisavam principalmente que Frank confirmasse que lhe tinham roubado um da sua colecção.
Ali perto ardia uma fogueira. Deborah e Cherokee aperceberam-se do cheiro quando se aproximaram da porta da casa de Ouseley.
- Faz-me lembrar o desfiladeiro - disse Cherokee. - No meio do Inverno nem nos apercebemos de que estamos em Orange County, por causa das cabanas e das lareiras. Por vezes neva nas Saddleback Mountains. Não há melhor. - Olhou em volta. - Só agora é que percebi isso.
- Estás a pensar desistir de ir viver num barco de pesca?
- Raios! - disse ele tristemente. - Pensei em desistir depois de ter passado quinze minutos na prisão de St. Peter Port - fez uma pausa no quadrado de cimento que servia de alpendre à casa. - Sei que sou eu que tenho a culpa de tudo isto. Fui eu que pus a China nesta situação, porque para mim era dinheiro rápido e fácil. Preciso de a tirar deste sarilho. Se não conseguir... - suspirou, soltando uma nuvem de vapor de água para o ar. - Ela está assustada, Debs. E eu também. Acho que é por isso que quero mandar chamar a nossa mãe. Não seria uma grande ajuda... até poderia piorar as coisas... mas, mesmo assim...
- Mesmo assim é vossa mãe - completou Deborah, apertando-lhe o braço. - Vai correr tudo bem, vais ver.
Ele pôs a mão sobre a dela
- Obrigado - disse. - Tu és... - sorriu. - Não importa. Ela ergueu as sobrancelhas.
- Cherokee, estás a pensar atirar-te a mim? Ele riu.
- Podes querer.
Bateram à porta e depois tocaram à campainha. Apesar do som da televisão lá dentro e do Peugeot a porta, ninguém atendeu. Cherokee comentou que Frank talvez estivesse a trabalhar na sua imensa colecção e foi ver às outras duas casas, enquanto Deborah voltava a bater à porta. Por fim ouviu uma voz entrecortada.
- Agüentem aí os cavalos!
- Já aí vem alguém - disse a Cherokee.
Ele foi ter com ela e, entretanto chaves e trancas funcionaram do lado de dentro.
Um velho abriu a porta. Um homem muito velho. Olhou-os através das lentes cintilantes dos óculos grossos e apoiava-se à parede com uma mão frágil. Parecia manter-se em pé devido a uma combinação de força de vontade com essa parede, mas estava a fazer um esforço terrível. Deveria usar um andarilho ou pelo menos uma bengala, mas não tinha com ele nenhum destes objectos.
- Ora, já cá estão! - disse, expansivo. - Vêm um dia adiantados, não é verdade? bom, não importa. Melhor ainda. Entrem, entrem!
Manifestamente esperava alguém. A própria Deborah esperava encontrar um homem muito mais novo, mas Cherokee esclareceu-a quando perguntou.
- O Frank está, senhor Ouseley? Vimos lá fora o carro dele. - Ela percebeu que se tratava do pai de Frank Ouseley.
- Não é com o Frank que têm de falar - disse o homem. - É comigo. Graham. O Frank foi levar a forma do empadão à quinta dos Petit. Se tivermos sorte a senhora Petit faz-nos outro de frango e alho-francês ainda esta semana. Tenho os dedos cruzados para que isso aconteça.
- O Frank demora muito? - perguntou Deborah.
- Oh, temos tempo de sobra para o nosso assunto antes que ele chegue - declarou Graham Ouseley. - Não se preocupem com isso. Não lhe agrada muito o que vou fazer, mas prometi a mim próprio que faria o que é devido antes de morrer. E vou mesmo fazê-lo, quer o meu filho concorde quer não.
Encaminhou-se para a sala sobreaquecida e pegou no comando da televisão que estava sobre o braço da sua cadeira. Apontou-o para o aparelho onde um cozinheiro estava a descascar bananas e apagou-o.
- Vamos conversar na cozinha. Há lá café.
- Mas de facto, nós viemos...
- Não é incômodo nenhum. - O velho interrompeu aquilo que pensava ser o protesto de Deborah. - Gosto de ser hospitaleiro.
Não havia mais nada a fazer senão segui-lo até à cozinha. Era uma divisão pequena, ainda mais pequena pelas coisas que continha. Pilhas de jornais, cartas e documentos dividiam o espaço com os utensílios de cozinha, loiça, talheres e um ou outro utensílio de jardim.
- Sentem-se - disse Graham Ouseley enquanto se dirigia à máquina de café que continha cerca de seis centímetros de um líquido viscoso que ele despejou sem qualquer cerimônia dentro do lava-loiça. De cima de uma prateleira vergada ao peso excessivo que tinha em cima, retirou uma lata e com a mão trêmula meteu uma colher no café que despejou na cafeteira e no chão. Arrastando os pés foi encher a cafeteira à torneira e pô-la ao lume. Sorriu orgulhoso de ter conseguido fazer tudo aquilo.
- E pronto - anunciou esfregando as mãos. - Porque estão ainda de pé? - perguntou franzindo a testa.
Estavam de pé porque obviamente não eram as visitas que o homem esperava receber em casa. Mas como o filho não estava - mas a presença do seu carro indicava que regressaria em breve daquilo que fora fazer, Deborah e Cherokee trocaram um olhar que significava, "Que diabo e porque não? Beberiam o café com o velhote e ficariam à espera."
Mesmo assim, Deborah achou que deveria perguntar.
- O Frank não demora, pois não senhor Ouseley?
- Escutem lá - respondeu ele impertinente. - Não têm nada que se importar com o Frank. Sentem-se. Já têm os blocos prontos? Não? Valha-me Deus. Então devem ter os dois memória de elefante. - Sentou-se numa das cadeiras e desapertou a gravata. Deborah reparou pela primeira vez que ele estava cuidadosamente vestido com um fato de tued e com os seus sapatos engraxados.
- O Frank já nasceu preocupado - informou-o Graham Ouseley- Cá entre nós, nem quer pensar no que pode resultar de tudo isto. Eu não me importo. Que me podem eles fazer que já não tenham feito mais de dez vezes, não é? Devo aos mortos pedir contas aos vivos, sabem é dever de todos nós e eu tenciono cumprir o meu antes de morrer, em noventa e dois anos. Quatro vezes vinte e mais doze, é o que é, o q acham?
Deborah e Cherokee murmuraram que era espantoso. A cafeteira assobiou no fogão.
- Deixe estar - disse Cherokee, e levantou-se antes que Graham Ouseley pudesse dar voz ao seu protesto. - Conte a sua história, senhor Ouseley. Eu trato do café. - Lançou ao velhote um sorriso simpático.
Aquilo pareceu ser suficiente para o apaziguar, porque Graham manteve-se onde estava enquanto Cherokee tratava do café, andando pela cozinha em busca das chávenas, das colheres e do açúcar. Quando trouxe as coisas para a mesa, Graham Ouseley encostou-se na cadeira.
- É uma longa história, sabem? Deixem-me contá-la. E começou assim.
A história de Graham Ouseley levou-os a cinqüenta anos atrás, ao tempo da ocupação alemã das Ilhas do Canal. Cinco anos a viverem debaixo daquele jogo, disse, cinco anos a tentarem ser mais espertos do que os malditos boches para viverem com dignidade apesar da degradação. Todos os veículos confiscados, incluindo bicicletas, os rádios declarados verboten, a deportação dos antigos residentes, as execuções dos alegados "espiões". Campos de trabalho escravo onde prisioneiros russos e ucranianos trabalhavam para construir fortificações para os nazis. Mortes nos campos de trabalho europeus para onde eram enviados aqueles que desafiavam as leis alemãs; documentos examinados até ao tempo dos avós para se assegurarem se havia sangue judeu para ser expurgado da populaça. E existiam muitos colaboradores entre o honesto povo de Guernsey: demônios desejosos de venderem a alma - e os seus conterrâneos - por aquilo que os alemães lhes prometiam.
- Inveja e desprezo - declarou Graham Ouseley. - Também nos venderam por isso. Ajustavam-se contas antigas murmurando um nome ao demônio nazi.
Teve o prazer de lhes dizer que na maioria das vezes o traidor era estrangeiro: um holandês que vivia em St. Peter Port que tinha conhecimento de que alguém escondia um rádio, um pescador irlandês de St. Sampson que assistira ao desembarque nocturno de um barco inglês perto de Petit Port Bay. Embora não houvesse desculpa, o facto de os bufos serem estrangeiros tornava a traição menos má do que se tivesse sido feita por um natural da ilha. Fora isso que acontecera com o G. I. F. T.
- Como assim? - perguntou Deborah.
Graham Ouseley informou-os de que o G. I. F. T. era um acrônimo de Guernsey Independent From Terror. Era o jornal da resistência da ilha e a única fonte verdadeira acerca das actividades dos Aliados durante a guerra. As notícias eram redigidas a partir de informações obtidas durante a noite pelos receptores clandestinos da BBC. Os factos da guerra eram resumidos em simples folhas de papel durante as horas mortas, à luz das velas, por trás das janelas tapadas da sacristia de St. Pierre-du-Bois e depois distribuídas de mão em mão por entre aqueles que eram de confiança e que estavam tão desejosos de saber o que se passava no mundo exterior que não se importavam de arriscar os interrogatórios nazis e o seu rescaldo para o receberem.
- Haviam bufos entre eles - declarou Granam Ouseley. - Devíamos ter imaginado. Devíamos ter tido mais cuidado. Não devíamos ter sido tão ingênuos. Mas eram dos nossos. - Bateu com o punho no peito. - compreendem? Eram dos nossos.
Os quatro homens responsáveis pelo G. I. F. T. foram presos depois da denúncia de um desses bufos, explicou. Três dos homens tinham morrido como resultado dessa prisão - dois na cadeia e o outro numa tentativa de fuga. Apenas um dos homens - o próprio Graham Ouseley sobrevivera a dois infernais anos de cárcere, antes de ter sido libertado, com cinqüenta quilos de pele, osso, piolhos e tuberculose.
Mas os bufos destruíram-me mais do que destruíram os criadores do G. I. F. T. dizia Ouseley. Deram informações sobre aqueles que recebiam os espiões britânicos, sobre aqueles que escondiam prisioneiros russos que tinham fugido, sobre aqueles cujo único "crime" fora escrever a giz o V de vitória nos assentos das motos dos soldados nazis, durante a noite, enquanto eles bebiam nos bares do hotel. Mas os bufos nunca tinham sido obrigados a pagar pelos seus crimes e era isso que pesara sobre o coração daqueles que tinham sofrido às suas mãos. Tinham morrido pessoas, tinham sido executadas, tinham ido parar à cadeia para nunca mais regressarem. Durante mais de cinqüenta anos, ninguém quisera falar publicamente nos nomes dos responsáveis.
- Têm sangue nas mãos - declarou Graham Ouseley. - Quero obrigá-los a pagar. Oh, hão-de lutar contra isso, claro! Hão-de negar bem alto. Mas quando espalharmos as provas... E é assim que eu quero, sabem. Primeiro os nomes no jornal para que neguem tudo e arranjem advogados. Depois apresento a prova e vejo-os estrebuchar como deveriam ter estrebuchado quando por fim os boches se renderam aos Aliados. Era nessa altura que tudo se deveria ter sabido. Os bufos, os colaboradores e os amigos dos boches.
O velhote estava muito excitado, tinha os lábios molhados de saliva. Deborah temeu que lhe fizesse mal ao coração, pois tinha a pele de um tom azulado. Sabia que chegara o momento de o fazer entender que não eram quem ele pensava que eram, não eram repórteres que tinham vindo ouvir a sua história para a publicar no jornal local.
- Senhor Ouseley, receio bem... - disse ela.
- Não! - Afastou a cadeira da mesa com uma força surpreendente de tal maneira que entornou o café das canecas e o leite do jarro. - Se não acreditam venham comigo. Eu e o meu filho Frank temos provas, sabem?
- Pôs-se de pé com alguma dificuldade e Cherokee ergueu-se para o ajudar. Mas Graham não aceitou e dirigiu-se hesitante para a porta. Mais uma vez parecia não haver nada mais a fazer do que segui-lo, acalmá-lo e esperar que o filho chegasse antes que o velho tivesse algum problema causado por tantos esforços.
St. James passou primeiro por casa dos Duffy. Não ficou surpreendido por não encontrar lá ninguém. No meio do dia, Valerie e Kevin estariam sem dúvida a trabalhar; ele algures na propriedade de Lê Reposoir e ela na casa grande. Era com ela que St. James queria falar. As dúvidas que sentira na anterior conversa com ela precisavam de ser esclarecidas, agora que sabia ser ela irmã de Henry Moullin.
Conforme esperava encontrou-a na casa grande da qual foi autorizado a aproximar-se após se ter identificado junto da polícia que ainda prosseguia a busca na propriedade. Ela veio à porta com uma trouxa de lençóis debaixo do braço.
St. James não perdeu tempo com delicadezas sociais que lhe roubariam a vantagem da surpresa e permitiriam que ela organizasse os pensamentos.
- Porque não me disse logo que havia outra mulher loura metida no caso? - perguntou.
Valerie não respondeu imediatamente, mas ele leu-lhe nos olhos que ela estava confusa e, logo a seguir, que a sua cabeça começava a fazer cálculos. Ergueu os olhos como se desejasse procurar o marido, cujo apoio sem dúvida apreciaria. Mas estava decidido a não o permitir.
- Não compreendo - disse em voz fraca. Poisou os lençóis no chão, dentro de casa e recuou para o interior.
Ele seguiu-a pelo átrio de pedra onde o ar era glacial e estava ainda impregnado do cheiro de uma lareira apagada. Ela deteve-se junto a uma enorme mesa de refeitório que ocupava o centro da divisão e começou a juntar as folhas secas e as bagas caídas do arranjo de flores outonais rematado por velas altas e brancas.
- A senhora afirmou ter visto uma mulher loura atrás do Guy Brouard na direcção da baía, na manhã da sua morte.
- A americana...
- Foi do que nos quis convencer. Ela ergueu os olhos das flores:
- Eu vi-a.
- A senhora viu alguém. Mas há outras possibilidades, não é verdade? Apenas se esqueceu de as mencionar.
- A senhora Abbott é loura.
- E suspeito que a sua sobrinha Cynthia também seja.
Em abono da verdade, pôde dizer-se que Valerie não afastou os olhos dele. Também em abono da verdade pôde dizer-se que ela não disse nada até ter a certeza daquilo que ele sabia. Não era idiota.
- Falei com o Henry Moullin - disse St. James. - Julgo ter visto a sua sobrinha. Ele queria que eu pensasse que ela estava em Aldemey com a avó, mas alguma coisa me diz que se há uma avó viva, não é em Alderney que a vou encontrar. Senhora Duffy, porque é que o seu irmão tem a Cynthia escondida em casa? Também a trancou no quarto?
- Ela está a passar por uma fase difícil - disse por fim Valerie Duffy e, enquanto falava, continuou a tratar das flores, das folhas e das bagas. - As raparigas da idade dela estão sempre a passar por elas.
- Que tipo de fase é que requer o encarceramento?
- Quando não se consegue falar com elas. Quando não se consegue que tenham juízo, é o que quero dizer. Quando não querem ouvir-nos.
- Não têm juízo porquê?
- Por causa dos seus caprichos, sejam eles quais forem.
- E o dela é...
- Não sei.
- Segundo o seu irmão, a senhora sabe - comentou St. James. - Disse-me que tinha confiado em si. Deu-me a impressão que ele e a senhora eram muito chegados.
- Não o suficiente. - Pegou numa mão-cheia de folhas e foi pô-las na lareira. Tirou um pano do bolso do avental e começou a limpar o pó do tampo da mesa.
- Então concorda que ele a feche em casa enquanto ela passa pela tal fase?
- Não foi isso que eu disse. Quem me dera que o Henry... - fez uma pausa, parou com a limpeza e pareceu querer de novo ordenar os pensamentos.
- Porque foi que o senhor Brouard lhe deixou dinheiro a ela e às irmãs não? - perguntou St. James. - Uma jovem de dezassete anos herda uma pequena fortuna às custas dos filhos do seu benfeitor e das suas próprias irmãs? Qual foi a intenção?
- Ela não foi a única. Se sabe da Cyn, também lhe hão-de ter falado do Paul. Têm ambos irmãos. Ele até tem mais do que a Cyn. Nenhum deles foi contemplado. Não sei por que razão o senhor Brouard fez o que fez. Talvez lhe tenha agradado pensar no tumulto que ia causar entre os jovens da sua família.
- Não é isso o que o pai da Cynthia afirma. Ele diz que o dinheiro era para a educação dela.
Valerie limpou um bocado da mesa que já estava impecável.
- Também me disse que o Guy Brouard tinha outros caprichos. Fiquei a pensar se não teria sido um deles que o levou à morte. Sabe o que é uma roda das fadas, senhora Duffy.
Ela começou a limpar mais lentamente.
- Folclore.
- Folclore da ilha, suponho eu - disse St. James. - A senhora e o seu irmão nasceram aqui, não é verdade?
Ela ergueu a cabeça.
- Não foi o Henry, senhor St. James - disse ela calmamente. As pulsações batiam-lhe na garganta mas não dava qualquer outra indicação de se sentir incomodada pelo rumo que tomavam as palavras de St. James.
- Não estava a pensar em Henry - disse St. James. - Ele tinha alguma razão para querer ver o senhor Brouard morto?
Ela corou intensamente e voltou à sua inútil tarefa.
- Reparei que ele estava envolvido no projecto do museu do senhor Brouard. No projecto original, por causa dos desenhos que vi no celeiro. Gostaria de saber se seria também incluído no segundo projecto. Sabe?
- O Henry trabalha bem o vidro - respondeu ela. - Foi isso que os juntou. - O senhor Brouard precisava de alguém que lhe fizesse o jardim de inverno que é grande e complicado. Não o poderia ter comprado já feito. Também precisava de alguém para as estufas. E até para as janelas.
Falei-lhe no Henry. Falaram um com o outro e chegaram a um acordo. Desde aí, o meu irmão sempre trabalhou para ele. - Foi assim que o senhor Brouard reparou na Cynthia? - O senhor Brouard reparava em muitas pessoas - disse pacientemente Valerie. - Paul Fielder, Frank Ouseley, Nobby Debiere. Henry e SCynthia. Até mandou a Jemima Abbott para a escola de manequins em Londres e dava uma ajuda à mãe dela sempre que esta precisava. Interessava-se. Investia nas pessoas. Ele era assim.
- As pessoas geralmente esperam que os seus investimentos lhes tragam alguma retribuição - comentou St. James. - E nem sempre financeira.
- Então faria bem em perguntar a cada um deles o que o senhor Brouard esperava deles - disse ela perspicaz. - E talvez o melhor fosse começar pelo Nobby Debiere. - Enrolou o pano e voltou a metê-lo no bolso do avental. Recuou na direcção da porta principal. Apanhou a roupa que Hpoisara no chão, encostou-a à anca e voltou-se para St. James. - Se não precisa de mais nada...
- Nobby Debiere, porquê? - perguntou St. James. - É o arquitecto, não é verdade? O senhor Brouard pediu-lhe alguma coisa de especial?
- Se pediu, o Nobby não estava muito inclinado a dar-lha na noite anterior ao crime. "Não vou deixar que me arruine", dizia o Nobby. Gostaria de saber o que quereria ele dizer com isso.
Tratava-se de um esforço óbvio para desviar a conversa dos seus parentes. St. James não estava disposto a ceder com tanta facilidade.
- Há quanto tempo é que a senhora e o seu marido trabalham para os Brouard?
- Desde o princípio. - Passou a trouxa de um braço para o outro e olhou propositadamente para o relógio.
- Então conhecia bem os seus hábitos.
Valerie não respondeu imediatamente mas os olhos semicerraram-se um pouco enquanto reflectia sobre o que aquilo poderia querer dizer.
- Hábitos...
- Como o banho matinal do senhor Brouard, por exemplo.
- Toda a gente sabia.
- E sobre o ritual da sua bebida? O ginkgo e chá verde? A propósito, onde o guardavam?
- Na cozinha.
- Onde?
- No armário da despensa.
- E a senhora trabalha na cozinha.
- Está a sugerir que eu...
- Onde a sua sobrinha vinha para conversar consigo? Onde o seu irmão, enquanto estava a trabalhar no jardim de inverno, também talvez viesse... para conversar?
- Todos os que tinham relações de amizade com os Brouard podiam entrar e sair da cozinha. Esta não é uma casa formal. Não fazemos distinções entre criados e patrões. Os Brouard não são assim, nem nunca foram. E é por isso... - deteve-se. Agarrou nos lençóis com mais firmeza.
- E é por isso... - repetiu calmamente St. James.
- Tenho mais que fazer - disse ela. - Mas não se importa que lhe dê uma sugestão? - Nem esperou saber se ele estaria ou não disposto a recebê-la. - A nossa família não teve nada a ver com a morte do senhor Brouard, senhor St. James. Mas espero que, se escavar um pouco mais, vai descobrir que os assuntos de outra família podem ter.
Capítulo 19
FRANK NÃO TINHA CONSEGUIDO ENTREGAR A FORMA DO EMPADÃO A Betty Petit e voltar a Moulin dês Niaux com a rapidez que desejara, a mulher, viúva e sem filhos, tinha poucas visitas e, quando aparecia uma, oferecia-lhe sempre café e brioches. O único factor que permitia que Frank fizesse aquela visita em menos de uma hora era a desculpa do pai. Não posso deixar o meu pai muito tempo sozinho, servia-lhe sempre que era preciso.
Logo que chegou ao pátio da azenha viu, estacionado junto ao seu Peugeot, um Escort com um enorme autocolante representando um arlequim, logotipo de uma das empresas de rent-a-car da ilha. Olhou imediatamente para a casa e viu a porta aberta de par em par. Franziu a testa e começou a correr em direcção a ela.
- Pai? - chamou à entrada. - Está alguém em casa? - Mas apercebeu-se imediatamente de que não havia lá ninguém.
Só havia uma alternativa. Frank dirigiu-se apressadamente para uma das outras casas onde estavam guardadas as recordações da guerra. Ao passar pela pequena janela da sala, aquilo que viu lá dentro encheu-lhe a cabeça com um ruído parecido com o da água a correr. O irmão de China River acompanhado de uma ruiva estava ao lado de um armário de arquivo. A gaveta de cima estava aberta e o pai de Frank encontrava-se diante dela. Graham Ouseley agarrava-se ao lado daquela gaveta para manter o equilíbrio. com a outra mão esforçava-se por tirar lá de dentro um molho de documentos.
Frank nem parou. Três passos levaram-no até à porta da pequena casa que abriu furioso. A madeira inchada rangeu contra o chão velho.
- Mas que demônio... - disse zangado - que demônio estão a fazer aqui? Pai! Pare! Esses documentos são frágeis! - Aquilo levantava a questão de, se eram frágeis o que fariam assim tão mal arrumados dentro da gaveta do arquivo. Mas não era aquele o momento de se preocuparem com tal coisa.
Enquanto Frank entrava no quarto, Graham ergueu os olhos.
- Chegou a altura, rapaz. Já disse, está dito. Sabes o que temos a fazer.
- Está maluco? - perguntou Frank. - Largue isso tudo! - Pegou no braço do pai e tentou fazê-lo recuar.
O pai afastou-o.
- Não! Esses homens merecem. Há dívidas a serem pagas e eu quero pagá-las. Sobrevivi, Frank. Três deles morreram e eu ainda estou vivo. Todos estes anos em que podiam ter sido avôs e bisavôs, Frank. Mas tudo ficou em nada por causa de um bufo que agora vai sofrer as conseqüências dos seus actos. Percebes, filho? Chegou a altura de pagarem.
Debateu-se como um rapazinho a receber um castigo, mas sem ter a agilidade de um jovem. A sua fragilidade fazia com que Frank sentisse relutância em ser mais ríspido com ele. Porém ao mesmo tempo era muito mais difícil controlá-lo.
- Julgo que ele pensa que somos jornalistas - disse a ruiva. - Tentámos dizer-lhe... de facto viemos falar consigo.
- Saiam - disse Frank voltando-se para trás. - Por uns minutos, por favor. - Continuou tentando adoçar a ordem.
River e a ruiva saíram da pequena casa. Frank esperou até que estivessem lá fora. Depois afastou o pai do arquivo e fechou a gaveta com um estrondo.
- Seu velho maluco - disse entre dentes.
A ofensa chamou a atenção de Graham. Frank raramente praguejava e nunca para o pai. A sua dedicação por ele, as paixões que partilhavam entre si, a história que os ligava e a vida que tinham passado juntos sempre tinha evitado qualquer inclinação que pudesse ter sentido para a raiva ou para a impaciência diante da teimosia do pai. Mas aquela circunstância constituía o limite extremo daquilo que Frank estava disposto a suportar. Uma barragem rebentara dentro dele - apesar de a ter construído meticulosamente nos últimos dois meses - e deixou sair um chorrilho de invectivas que nem sabia fazerem parte do seu vocabulário.
Graham encolheu-se ao ouvir aquilo. com os ombros descaídos e os braços ao longo do corpo, sentia-se frustrado e tinha os olhos vagos marejados de lágrimas assustadas por detrás das lentes grossas dos seus óculos.
- As minhas intenções... - tremia-lhe o queixo mal barbeado. - As minhas intenções eram boas.
Frank mostrou-se ainda mais severo.
- Oiça, pai - disse. - Aqueles dois não são jornalistas. Percebe? Não são jornalistas. Aquele homem... é... - Meu Deus, como haveria de lhe explicar? E de que valeria a pena explicar-lhe? - E a mulher... - Nem sequer sabia quem ela era. Tinha idéia de a ter visto no funeral de Guy, mas quanto àquilo que estava a fazer na azenha... e com o irmão de China River... precisava de obter imediatamente uma resposta.
Graham olhava-o na mais completa confusão.
- Eles disseram... eles vieram... - E depois, pondo de lado toda essa linha de pensamento agarrou no ombro de Frank e gritou. - Já é tempo, Frank. Posso morrer a qualquer momento. Só resto eu. Percebes isso, não é verdade? Diz-me que percebes. Diz-me que sabes. E já que não podemos ter o museu... - A sua força era muito maior do que Frank julgava possível. - Frankie, não posso permitir que eles tenham morrido em vão.
Frank sentiu-se picado por aquele comentário, como se ele lhe tivesse trespassado o espírito e também a carne.
- Pai, por amor de Deus... - disse, mas não conseguiu acabar. Puxou o pai para si e abraçou-o com força. Graham soltou um soluço junto ao ombro do filho.
Frank queria chorar com ele mas não tinha lágrimas. E mesmo que possuísse um poço dentro de si, não as deixaria transbordar.
- Tenho de o fazer, Frankie - gemeu o pai. - É muito importante, bem sabes.
- Eu sei - disse Frank.
- Então... - Graham afastou-se do filho e limpou as lágrimas à manga do casaco de tweed.
Frank pôs o braço em volta dos ombros do pai e disse:
- Depois falamos disso, pai. Havemos de arranjar uma maneira. empurrou-o para a porta e, como os "jornalistas" tinham desaparecido Graham cooperou como se os tivesse esquecido completamente, o que deveria ser o caso. Frank levou-o de volta para casa, cuja porta continuava aberta. Ajudou o pai a entrar e a sentar-se na cadeira. Graham apoiou-se nele enquanto se sentava. A cabeça pendia como se, de repente, se tivesse tornado muito pesada e os óculos escorregaram-lhe do nariz.
- Sinto-me esquisito, filho - murmurou. - Talvez fosse melhor dormir um bocadinho.
- Esteve a abusar - disse Frank ao pai. - Já não posso deixá-lo sozinho.
- Não sou um bebê, Frank.
- Mas só faz disparates se eu não estiver aqui para tomar conta de si. O pai é mais teimoso que uma mula.
Graham sorriu e Frank entregou-lhe o comando da televisão.
- É capaz de ficar sossegado durante uns minutos? - perguntou Frank ao pai num tom afectuoso. - Quero saber o que se passa. - Apontou para a janela da sala e depois lá para fora, inclinando a cabeça.
Quando o pai ficou de novo absorvido nos programas da televisão, Frank foi ter com River e com a ruiva. Estes encontravam-se junto às cadeiras de estender que ficavam sobre o descuidado relvado por detrás das pequenas casas. Pareciam estar profundamente absorvidos numa discussão. Quando Frank foi ter com eles a conversa terminou.
River apresentou a companheira como sendo amiga da irmã. Chamava-se Deborah St. James, disse ele, e ela e o marido tinham vindo de Londres para ajudar China.
- Ele trata de coisas deste gênero - disse River.
A principal preocupação de Frank era o pai e não o deixar só para que não se metesse em mais sarilhos, por isso respondeu à apresentação com a maior cortesia possível.
- Como posso ajudar-vos?
Responderam ambos quase em uníssono. A sua visita tinha a ver com um anel relacionado com a ocupação. Fora identificado por uma inscrição em alemão, por uma data e pelo seu invulgar desenho de uma caveira com tíbias cruzadas.
- Tem alguma coisa desse gênero na sua colecção? - River parecia ansioso.
Frank olhou-o com curiosidade e depois observou a mulher que se dirigia a ele com uma franqueza que mostrava como a informação era importante para ambos. Pensou em todas as possíveis implicações das respostas que lhes pudesse dar.
- Creio que nunca vi uma coisa assim - declarou.
- Mas não tem a certeza, pois não? - replicou River.
Como Frank não lhes deu a certeza, ele continuou apontando para as duas casinhas junto da azenha.
- Tem um monte de coisas ali. Lembro-me de dizer que ainda não estava tudo catalogado. Era assim que estavam a fazer as coisas, não é verdade? O senhor e o Guy estavam a preparar a exposição mas, em primeiro lugar, tinham de fazer uma lista daquilo que tinham e de onde se encontrava para saberem onde haveriam de pôr as coisas no museu, não é verdade?
- Era exactamente isso que estávamos a fazer. - E o miúdo ajudava-vos. O Paul Fielder. O Guy trazia-o de vez em quando.
- Uma vez trouxe também o filho e o outro miúdo, o filho da Anais Abbott - disse Frank. - Mas que tem isso a ver com...
River voltou-se para a ruiva.
- Vês? Há outras pessoas. Pode ter sido o Paul. O Adrian. O outro miúdo. A polícia quer fazer crer que todos os caminhos vão dar à China, mas não vão e aí tens uma prova.
- Não necessariamente - disse a mulher em tom suave. - A menos que... - Pareceu reflectir e dirigiu os seus comentários a Frank. - Há alguma possibilidade de ter catalogado um anel como o que descrevemos e ter-se simplesmente esquecido? Ou que outra pessoa o tenha catalogado? Ou mesmo que o senhor o tenha entre as suas coisas e o tenha esquecido?
Frank admitiu a possibilidade, mas fê-lo em tom duvidoso porque sabia o que ela lhe iria pedir e não queria aceitar. Mesmo assim ela Bfoi directa. Poderiam dar uma olhadela aos objectos do tempo da guerra? Ela sabia perfeitamente que não haveria maneira de poderem observar tudo, mas havia sempre a possibilidade de terem sorte... i - bom, vamos dar uma olhadela aos catálogos - disse Frank. - Se nos tivesse aparecido um anel, um de nós já o teria documentado. Levou-os para onde o pai os tinha levado e retirou um bloco-notas. Havia quatro e, cada um deles estava dedicado a um tipo de artigo da guerra. Tinha um para o vestuário, outro para medalhas e insígnias, outro para armas e munições, outro para documentos e papéis. Uma espreitaI dela ao bloco das medalhas e outras insígnias mostrou a River e à senhora St. James que não aparecera nenhum anel como eles tinham acabado de descrever. Não significava porém que o anel não se encontrasse algures entre a vasta quantidade de material que ainda teria de ser examinado. E os visitantes imediatamente se aperceberam disso. Deborah St. James quis saber se as restantes insígnias estavam guardadas num só lugar ou espalhadas por toda a colecção. Estava a referir-se às não catalogadas e Frank respondeu afirmativamente. Disse-lhe que não eram guardadas num só sítio. Explicou-lhe que os únicos objectos agrupados eram os que já tinham sido catalogados e examinados.
Esses objectos, explicou, tinham sido metidos em recipientes cuidadosamente etiquetados a fim de poderem ser recuperados sem qualquer problema no dia em que as colecções fossem instaladas no museu. Todos os artigos eram referidos num caderno correspondente e tinham um número de objecto e um número de recipiente para serem facilmente encontrados no dia em que fossem necessários.
- Como não há qualquer anel mencionado no catálogo... - disse Frank com ar penalizado, deixando que um eloqüente silêncio preenchesse o resto do seu comentário - não deve existir nenhum anel, a menos que esteja escondido algures por entre o nó górdio de artigos que ainda precisam de ser tratados.
- Mas havia anéis no catálogo - comentou River.
- Então - disse a companheira -, durante o período em que foram divididos alguém poderia ter roubado um anel com uma caveira e tíbias cruzadas sem que o senhor tivesse conhecimento, não é verdade?
- E essa pessoa poderia ter sido qualquer um que tivesse acompanhado o Guy Brouard numa ou noutra ocasião - acrescentou River. Paul Fielder. Adrian Brouard. O filho de Anais Abbott.
- Talvez - disse Frank. - Mas não vejo qualquer razão para isso.
- Ou poderiam ter-lhe roubado um anel noutra altura - sugeriu Deborah St. James. - Porque se alguma coisa fosse retirada do seu material não catalogado, o senhor daria pela sua falta?
- Suponho que depende do que tivesse sido retirado - respondeu Frank. - Se fosse uma coisa grande, uma coisa perigosa... provavelmente tê-lo-ia notado. Uma coisa tão pequena...
- Como um anel - insistiu River.
- Poder-me-ia ter passado despercebido. - Frank viu os olhares de satisfação trocados pelos seus visitantes. - Mas digam-me, porque é tão importante?
- Fielder, Brouard e Abbott. - Cherokee River dirigiu-se à ruiva e não a Frank e em breve ambos se despediam. Agradeceram a Frank a ajuda prestada e apressaram-se a entrar no carro.
Este ouviu ainda River dizer em resposta a uma coisa qualquer que a mulher lhe tinha dito.
- Todos o poderiam querer por razões diferentes. Mas a China não. De modo algum.
A princípio Frank pensou que River se referia ao anel da caveira e das tíbias cruzadas. Mas logo se apercebeu que falavam de assassínio: que muitos desejavam a morte de Guy e talvez necessitassem dela. E para além disso, sabiam que essa morte poderia muito bem ser a única resposta a um perigo iminente.
Estremeceu e desejou ter uma religião que lhe oferecesse as respostas e o caminho a seguir. Fechou a porta da pequena casa pensando na morte precoce e desnecessária - e olhou para a mistura de recordações da guerra que havia anos definiam a sua vida e a do pai.
Quantas vezes ouvira a frase, Olha o que tenho aqui, Frankie!
E Feliz Natal, pai. Não adivinhas onde encontrei isto.
Ou Imagina de quem eram as mãos que dispararam esta pistola, filho. Imagina o ódio que disparou o gatilho.
Tudo o que tinha fora reunido para manter uma ligação com um homem gigantesco, um colosso de espírito, dignidade, coragem e força. Ninguém poderia vir a ser como ele - seria impossível ter sequer a esperança de ser como ele, viver como ele vivera, ter sobrevivido ao que ele sobrevivera - por isso partilhava o que ele amava e do modo que ele amava para deixar uma pequena marca no mesmo local em que o seu pai tinha deixado a sua, imponente e orgulhosa.
Fora assim que tudo começara, com essa necessidade de ser como ele. Uma necessidade de tal forma visceral que Frank perguntava a si próprio se os filhos eram de alguma forma programados a partir da concepção para crescerem numa perfeita emulação paternal. Se não fosse possível - se o pai fosse uma figura demasiado hercúlea, nunca debilitada bela enfermidade ou pela idade -, então, algo mais teria de ser criado para servir ao filho de prova irrefutável de uma dignidade semelhante à do pai.
Dentro da pequena casa, Frank observou o testemunho concreto do seu valor pessoal. A idéia de uma colecção de recordações do tempo da guerra e os anos de busca de objectos, desde balas a ligaduras, tinha crescido como a vegetação abundante que rodeava a azenha: indisciplinada, exuberante e livre. A semente fora plantada na forma de uma mala guardada pela mãe de Graham: livros de senhas de racionamento, precauções contra os ataques aéreos, licenças para comprar velas. Vistos e folheados estes documentos tinham servido de inspiração para o grande projecto que tinha rodeado a vida de Frank Ouseley e servido de exemplo ao amor que tinha pelo pai. Aqueles objectos coleccionados com tanto cuidado tinham sido o equivalente das palavras de devoção, admiração e puro encanto que ele não conseguira pronunciar.
O passado está sempre connosco, Frankie. Temos de ser nós, que o vivemos a passá-lo aos que vêm a seguir. Senão, como evitaremos que o mal se propague? Como poderemos saudar aquilo que é bom?
E que melhor meio de preservar o passado e de o reconhecer do que educando os outros, não só nas salas de aula, como ele fizera durante muitos anos, mas também através da exposição de relíquias que definiam uma época já desaparecida? O pai tinha folhas do G. I. F. T. algumas proclamações nazis, um boné da Luftwaffe, um emblema de membro do partido, uma pistola enferrujada, uma máscara de gás e uma lâmpada de carboneto. Quando era pequeno, Frank tivera estes objectos nas mãos e começara a procurá-los para os juntar a partir dos sete anos.
Vamos começar uma colecção, pai. Não quer? Seria muito divertido, não acha? Tem de haver um monte de objectos nesta ilha.
Isto não é uma brincadeira, rapaz. Nunca deves pensar que se trata de uma brincadeira, compreendes?
E ele compreendera. Compreendera. E fora o seu tormento. Compreendera. Nunca se tratara de uma brincadeira.
Frank afastou da idéia o som da voz do pai, mas, no seu lugar, apareceu outro som, uma explicação do passado e do futuro que se ergueu. sabe-se lá de onde com palavras cuja fonte ele sentia conhecer, mas não podia nomear. E a causa, é a causa, minha alma. Chorou como uma criança apanhada por um sonho mau que se transformasse num pesadelo.
Viu que o arquivo não fechava bem quando empurrou a gaveta. Aproximou-se prudentemente como um soldado inexperiente que atravessasse um campo de minas. Quando lá chegou incólume, meteu os dedos no puxador, como se esperasse queimar os dedos no aço.
Finalmente fazia parte da guerra em que desejara combater com valor e distinção. Sabia finalmente o que era querer fugir desesperadamente do inimigo para um local abrigado onde se pudesse esconder, um local que afinal não existia.
Quando regressou a Lê Reposoir, Ruth Brouard viu que um grupo de agentes da polícia tinha passado dos terrenos da propriedade para o carreiro e progredia até ao atalho que os levaria até à praia. Parecia que tinham terminado o trabalho dentro da casa. Agora iriam inspeccionar os taludes e as sebes - talvez até os bosques e os campos - para tentarem encontrar a prova daquilo que sabiam ou pensavam saber ou imaginar acerca da morte do irmão.
Decidiu ignorá-los. O tempo que passara em St. Peter Port tinha-lhe esgotado quase toda a energia e ameaçava roubar-lhe aquilo que, havia muito, a sustinha numa vida marcada pela fuga, pelo medo e pela perda. Tendo atravessado tudo o que teria destruído o cerne de qualquer criança - uma base cuidadosamente construída por dois pais amantíssimos, por avós e tios e tias afectuosos - fora capaz de se manter quem era. A razão fora Guy e o que Guy representara: a família e a sensação de ter vindo de algum lugar, mesmo que esse lugar tivesse desaparecido para sempre. Mas hoje Ruth tinha a impressão de que Guy, como ser humano vivo, o Guy que ela conhecera e amara estava prestes a desaparecer. Se tal acontecesse, não sabia como ou se o conseguiria recuperar. Mais, não sabia se o desejava.
Percorreu o caminho por baixo dos castanheiros e pensou como seria bom poder dormir. Havia semanas que cada movimento era um esforço e sabia que no seu futuro imediato não haveria paliativos para o seu sofrimento. A morfina cuidadosamente administrada poderia mitigar a desgraça que se apossava incessantemente dos seus ossos, mas apenas um esquecimento completo lhe retirariam do espírito as suspeitas que a tinham começado a invadir.
Disse para consigo que aquilo que soubera poderia ter mil e uma explicações. Mas esse facto não alterava que algumas delas pudessem perfeitamente ter custado a vida ao irmão. Não importava que o que descobrira sobre os últimos meses de vida de Guy pudesse realmente aliviar-lhe o remorso que sentia pelo papel que representara nas circunstâncias ainda inexplicáveis do seu assassínio. O que tinha importância era o facto de não ter sabido o que o irmão tinha andado a fazer e a existência desse simples não saber era o suficiente para a fazer perder todas as suas certezas. Permiti-lo seria deixar-se invadir por horrores cada vez maiores. Assim, sabia que teria de construir muralhas contra a possibilidade de perder aquilo que tinha definido o seu mundo. Mas não ignorava como fazê-lo.
Depois de sair do escritório de Dominic Forrest fora falar com o corretor de Guy e depois com o banqueiro. A partir deles conhecera a viagem levada a cabo pelo irmão nos dez meses anteriores à sua morte. Tinha vendido enormes quantidades de valores, fizera entrar e sair da sua conta bancária dinheiro, de tal maneira que se viam por toda a parte marcas de ilegalidade. Os rostos impassíveis dos conselheiros financeiros de Guy sugeriam muito, mas apenas lhe apresentaram factos tão simples que apenas se poderiam cobrir com as vestes da sua suspeita mais obscura.
Cinqüenta mil libras aqui, setenta mil ali, até chegarem à soma imensa de duzentas e cinqüenta mil libras no princípio de Novembro. Deveria haver uma pista documental, mas ela não queria ainda ocupar-se disso. Só quis confirmar aquilo que Dominic Forrest lhe havia dito serem os resultados da investigação feita pelo contabilista forense à situação monetária de Guy. Ele investira e voltara a investir com toda a cautela como sempre o fizera durante os nove anos que tinham passado na ilha, mas de repente, nos seus meses finais, o dinheiro escapara-se-lhe por entre os dedos como areia... ou ter-lhe-ia sido sangrado... ou exigido... ou ele tê-lo-ia doado... ou... ou quê?
Ruth não sabia. Durante um momento ridículo, disse para consigo que não se importava. Que não era importante - o dinheiro em si -, o que era de facto verdade. Mas aquilo que o dinheiro representava, aquilo que a ausência do dinheiro sugeria numa situação em que o testamento de Guy parecia indicar que havia muito para ser dividido pelos filhos e pelos outros dois beneficiários... não poderia ser ignorado. Porque essa idéia levava-a infalivelmente para o assassínio do irmão e para como e se ele estava ligado com dinheiro.
Doía-lhe a cabeça. Havia demasiadas informações soltas que pareciam encostar-se ao seu crânio, cada uma delas procurando uma posição de destaque. Mas não queria tratar daquilo agora. Só queria dormir.
Meteu o carro pelo atalho ao lado da casa, depois do roseiral, cujos arbustos já tinham sido podados para o Inverno. Depois do jardim, o caminho descrevia uma curva e levava ao antigo estábulo onde costumava guardar o automóvel. Ao travar apercebeu-se de que não tinha força para abrir as portas. Por isso fez unicamente girar a chave, desligou o motor e descansou a cabeça no volante.
Sentiu o frio penetrar no Rover, mas lembrou-se onde estava, com os olhos fechados escutando o reconfortante silêncio. Acalmou-a extraordinariamente. O silêncio não tinha nada a ensinar-lhe.
Sabia que não poderia ali ficar muito tempo. Precisava do seu remédio e de descanso. Meu Deus, como precisava de descanso.
Teve de usar o ombro para abrir a porta do carro. Quando pôs os pés no chão, apercebeu-se de que não seria capaz de atravessar a alameda em direcção ao jardim de inverno por onde poderia entrar em casa. Encostou-se então ao carro e foi assim que deu pelo movimento junto ao lago dos patos.
Pensou imediatamente em Paul Fielder e essa idéia levou-a a chegar à conclusão de que alguém teria de lhe participar que a herança não iria ser tão imensa como Dominic Forrest já o tinha feito acreditar. Não que importasse de sobremaneira. A família ficara muito pobre, o negócio do pai fora arruinado pelas inexoráveis pressões da modernização e conveniências da ilha. Qualquer coisa que lhe chegasse às mãos seria uma soma enorme, mais do que alguma vez teria podido esperar... se tivesse sabido do testamento de Guy. Mas aquilo eram outras especulações às quais Ruth não queria agora entregar-se.
O caminho até ao lago dos patos custou-lhe um esforço de vontade. Mas quando lá chegou, saindo de entre dois rododendros, viu que o lago se estendia diante dela como um prato de chumbo reflectindo a cor do céu, e descobriu que não se tratava de Paul Fielder que viera construir abrigos para os patos para substituir os que tinham sido destruídos. Era sim o homem de Londres que se encontrava à beira de água. Estava colocado a uns metros de uns utensílios de jardim que tinham ficado ali espalhados. Mas a sua atenção parecia concentrar-se no cemitério dos patos do outro lado da água.
Ruth quis dar meia volta para se dirigir a casa na esperança de que ele não reparasse nela. Mas ele olhou na sua direcção e depois para as campas.
- O que aconteceu? - perguntou.
- Alguém que não gostava de patos - respondeu ela.
- E quem é que não gosta de patos? São inofensivos.
- Dir-se-ia que sim. - Ela não disse mais nada, mas quando o homem se voltou, Ruth teve a impressão de que ele lhe lia a verdade no rosto.
- Os abrigos também foram destruídos? - perguntou ele. - Quem os estava a reconstruir?
- O Guy e o Paul. Tinham construído os originais. O lago era um dos seus projectos.
- Talvez isso não agradasse a alguém. - Dirigiu o olhar para a casa.
- Não imagino a quem - disse ela, embora se apercebesse de que as suas palavras pareciam artificiais e sabia e receava que ele nem por um instante acreditasse nela. - Tal como o senhor disse? Quem é que não gosta de patos?
- Alguém que não gostasse do Paul, ou da relação do Paul com o seu irmão.
- Está a pensar no Adrian?
- Ele mostrou-se ciumento?
Ruth pensou que Adrian poderia ser qualquer coisa. Mas não tencionava falar do sobrinho nem com aquele homem nem com outra pessoa qualquer. Por isso disse:
- Está muita humidade. vou deixá-lo às suas contemplações, senhor St. James. vou entrar.
Ele acompanhou-a sem ser convidado. Coxeou ao lado dela em silêncio e ela não teve outro remédio senão deixar que ele a seguisse através dos arbustos e até ao jardim de inverno cuja porta, como sempre, não estava fechada à chave.
Ele reparou. Perguntou-lhe se era costume.
Era, claro. Viver em Guernsey não era viver em Londres. As pessoas aqui sentiam-se seguras. As fechaduras não eram necessárias.
Ela sentiu os olhos azuis acinzentados de St. James na nuca enquanto seguia pelo caminho de pedra no ar húmido sob a cúpula de vidro. Sabia o que ele estava a pensar acerca da porta que não era fechada: o fácil acesso à casa de qualquer um que quisesse fazer mal ao seu irmão.
Preferiu que ele pensasse naquilo do que no que sugerira quando falara na morte dos patos inocentes. Ruth não acreditava, nem por um momento, que um intruso desconhecido tivesse a ver com a morte do irmão. Mas permitiria aquela especulação desde que o homem de Londres não imaginasse que Adrian poderia ser culpado.
- Estive a falar com a senhora Duffy - disse. - E a senhora, foi à cidade?
- Fui falar com o advogado do Guy. E também com o corretor e com o banqueiro. - Entrou na saleta. Viu que Valerie já lá tinha estado. As cortinas estavam abertas para deixar entrar a luz leitosa de Dezembro e o aquecedor a gás cortava o frio. Havia um termo de café na mesa ao lado do sofá com uma única chávena e um único pires ao lado. A caixa dos bordados estava aberta como que numa antecipação do seu trabalho na nova tapeçaria e o correio encontrava-se sobre a escrivaninha.
Naquela sala tudo indicava que se tratava de um dia normal. Mas não era. Nenhum dia voltaria a ser normal.
Aquela idéia obrigou Ruth a falar. Disse a St. James exactamente tudo o que soubera em St. Peter Port. Deixou-se cair no sofá e indicou-lhe uma das cadeiras. Simon escutou-a em silêncio e quando ela terminou ofereceu-lhe várias explicações. Ela já reflectira sobre elas na sua volta da cidade. Como poderia não o ter feito quando tinha uma morte a considerar?
- Claro que sugere que tenha havido chantagem - disse St. James. Os fundos que desaparecem. Os montantes que aumentam à medida que o tempo passa...
- Nada na vida do meu irmão poderia dar lugar a chantagem.
- À primeira vista talvez não. Mas pelos vistos ele tinha segredos, Miss Brouard. Foi à América sem que a senhora soubesse, não é verdade?
- Tenho a certeza de que não deve ter havido qualquer segredo. Há uma explicação simples para aquilo que o Guy fez com o dinheiro. Só que ainda não a encontrámos. - Mesmo enquanto falava não acreditava no que estava a dizer e via na expressão céptica do rosto de St. James que também ele não acreditava.
- Suponho que lá no fundo saiba que o modo como ele estava a movimentar o dinheiro não era legal - disse-lhe ele da maneira mais delicada possível.
- Não, não sei...
- E se quiser encontrar o assassino dele, e acho que é esse o seu desejo, sabe que temos de considerar as possibilidades.
Ela não respondeu. Mas o mal-estar que sentia estava de acordo com a compaixão que lia no rosto dele. Detestava aquilo: a compaixão das pessoas. Fora sempre assim. Coitadinha da menina que tinha perdido os pais às mãos dos nazis. Temos de ser caridosos. Temos de lhe permitir ter os seus pequenos momentos de terror e desgosto.
- Já temos a assassina - declarou Ruth num tom empedernido. Eu vi-a nessa manhã. Sabemos de quem se trata.
St. James continuou o seu raciocínio como se ela não tivesse dito nada.
- Talvez ele tivesse uma dívida a pagar. Talvez tivesse feito uma compra considerável. Talvez até uma compra ilegal. Armas? Drogas? Explosivos?
- Ridículo - disse ela.
- Se ele simpatizasse com uma causa...
- Árabes? Argelinos? Palestinianos? Irlandeses? - perguntou ela com ar zangado. - As inclinações políticas do meu irmão, senhor St. James, eram iguais às de um gnomo de jardim.
- Então a única conclusão é que andou a dar dinheiro a alguém. E se for esse o caso teremos de ver quem são os potenciais recipientes de uma soma tão elevada. - Olhou para a porta como se perguntasse a si próprio o que estaria lá por trás. - Onde está o seu sobrinho esta manhã, Miss Brouard?
- Isto nada tem a ver com o Adrian
- Mesmo assim...
- Suponho que tenha ido levar a mãe a qualquer parte. Ela não conhece bem a ilha. As estradas não estão bem sinalizadas e ela precisava de ajuda.
- Então ele visitava freqüentemente o pai nestes anos todos? Estava familiarizado com...
- Isto nada tem a ver com o Adrian - o som da sua voz pareceu-lhe estridente até aos próprios ouvidos. Sentia os ossos espetados por uma centena de lanças. Precisava livrar-se daquele homem, fossem quais fossem as suas intenções para com a sua família. Precisava de tomar o seu medicamento para tornar o seu corpo inconsciente o mais depressa possível.
- Senhor St. James, o senhor veio cá por qualquer razão, suponho eu. Sei que não se trata de uma visita social.
- Acabei de falar com o Henry Moullin - disse-lhe ele. Ruth mostrou-se cautelosa.
- Ah, sim?
- Não sabia que a senhora Duffy era irmã dele.
- Não vejo razão para que alguém lho tivesse dito.
Ele esboçou um breve sorriso reconhecendo que ela tinha razão. Continuou dizendo-lhe que vira os desenhos que Henry fizera das janelas do museu. Que esses desenhos lhe tinham recordado que o senhor Brouard tinha as plantas na sua posse. Perguntou se poderia deitar-lhes uma olhadela.
Ruth ficou tão aliviada pela simplicidade do pedido que concordou imediatamente, sem perder tempo a perguntar a si própria onde aquilo os poderia levar. As plantas estavam lá em cima no escritório de Guy, disse-lhe. Iria buscá-las imediatamente.
St. James disse-lhe que a acompanharia, se ela não se importasse. Queria dar outra olhadela à maqueta que Bertrand Debiere tinha construído para o senhor Brouard. Não levaria muito tempo, garantiu-lhe.
Não havia mais nada a fazer do que concordar. Subiam já as escadas quando o homem de Londres falou de novo.
- Parece que o Henry Moullin tem a filha fechada em casa. A senhora sabe há quanto tempo?
Ruth continuou a subir a escada, fingindo não ter ouvido a pergunta. Contudo, St. James foi implacável.
- Miss Brouard...
Ela respondeu rapidamente enquanto percorria o corredor que levava ao escritório do irmão, grata pela obscuridade que reinava dentro de casa que lhe camuflava a expressão.
- Não faço a menor idéia, senhor St. James - replicou ela. - Não tenho por hábito meter-me na vida dos meus conterrâneos.
- Então não havia nenhum anel catalogado com o resto da colecção - disse Cherokee River à irmã. - Mas isso não quer dizer que alguém não o tenha roubado em determinada altura sem que ele soubesse. Diz que o Adrian, o Steve Abbott e o Paul Fielder estiveram lá várias vezes.
China abanou a cabeça.
- O anel que estava na praia é meu. Eu sei, sinto-o. Vocês não?
- Não digas isso - disse Cherokee. - Tem de haver outra explicação. Estavam nos apartamentos Queen Margaret, reunidos no quarto de
China, onde a tinham encontrado, sentada numa cadeira de cozinha diante da janela. O quarto estava gelado, porque a janela estava aberta enquadrando uma vista de Castle Coronet.
- Pensei que seria melhor habituar-me a olhar o mundo de uma pequena janela - explicou China de um modo estranho, quando eles chegaram junto dela.
Não tinha vestido um casaco nem uma camisola. Nem parecia ter consciência de que a sua pele estava toda arrepiada.
Deborah despiu o seu casaco. Queria tranqüilizar a amiga com um fervor igual ao de Cherokee, mas também não queria dar-lhe falsas esperanças. A janela aberta ofereceu-lhe uma desculpa para evitar a discussão acerca do crescente negrume da situação de China.
- Estás gelada, veste isto. - E pôs o casaco em redor dos ombros de China.
Cherokee foi fechar a janela.
- Vamos tirá-la daqui - disse a Deborah e apontou para a sala, onde a temperatura era um pouco mais alta.
Depois de terem conseguido que China se sentasse e de Deborah ter encontrado um cobertor para enrolar as pernas, Cherokee disse à irmã:
- Sabes que tens de tomar mais cuidado contigo. Podemos ajudar-te nalgumas coisas, mas aí tens de ser tu.
- Ele pensa que fui eu - disse China a Deborah. - Pensa que fui eu que o matei e é por isso que ainda não veio.
- O que estás... - disse Cherokee. Deborah interrompeu-o.
- O Simon não trabalha assim. Está sempre a examinar as provas. Tem de ter o espírito aberto para isso. E neste momento, é isso que está a acontecer.
- Então porque não veio ainda aqui? Quem me dera que viesse? Se o fizesse... se nos pudéssemos encontrar e eu pudesse falar com ele... poderia explicar aquilo que precisa de ser explicado.
- Nada precisa de ser explicado, porque não fizeste nada a ninguém - disse Cherokee.
- O anel...
- Apareceu lá... na praia. Apareceu aí, sabe-se lá como. Se é o teu e não te lembras de o ter no bolso quando por acaso foste até à baía, estás a ser falsamente incriminada. Ponto final.
- Quem me dera nunca o ter comprado.
- Claro, caraças! Pensei que a história do Matt já tinha acabado. Disseste que já não havia mais nada entre os dois.
China lançou ao irmão um olhar incerto e durante tanto tempo que ele desviou os olhos.
- Não sou como tu - disse ela por fim.
Deborah viu que entre os dois irmãos tinha passado uma comunicação secundária. Cherokee parecia inquieto e arrastava os pés.
- Que diabo, China, vá lá! - disse, metendo os dedos por entre o cabelo.
- O Cherokee ainda faz surf - disse China a Deborah. - Sabias, Debs?
- Ele falou no surf, mas não creio que me tenha dito... - Deborah deixou a frase em suspenso. Era evidente que não era de sur/que amiga estava a falar.
- Foi o Matt que o ensinou. Foi assim que se tomaram amigos. O Cherokee não tinha prancha, mas o Matt não se importou de o ensinar com a dele, Que idade tinhas? - perguntou China ao irmão. - Catorze anos?
- Quinze - murmurou Cherokee.
- Exactamente. Quinze anos. Mas não tinhas prancha. Para ser bom, precisava de ter uma prancha - disse para Deborah. - Não podia estar sempre a pedir uma prancha emprestada porque era preciso treinar continuamente.
Cherokee dirigiu-se à televisão e pegou no comando. Examinou-o e apontou-o na direcção do aparelho. Ligou a televisão e imediatamente a desligou.
- Vá lá, China - disse.
- A princípio, o Matt era amigo do Cherokee, mas depois separaram-se quando ele e eu ficámos juntos. Pensei que era triste e uma vez perguntei ao Matt o que acontecera. Ele disse-me que as coisas mudam entre as pessoas e não falou mais do assunto. Pensei que fosse por os seus interesses serem diferentes. O Matt começou a realizar filmes e o Cherokee continuou a ser ele próprio: a tocar música, a fazer cerveja, a vender os seus falsos objectos índios. Concluí que o Matt era um adulto, enquanto o Cherokee queria ter dezanove anos para sempre. Mas as amizades nunca são assim tão simples, pois não?
- Queres que me vá embora? - perguntou Cherokee à irmã. Posso ir, sabes? Posso voltar para a Califórnia. A mãe pode vir até cá. Pode ficar contigo.
- A mãe? - Deborah soltou uma gargalhada estrangulada. - Seria perfeito. Já a estou a ver, andar por este apartamento... já para não falar a mexer na minha roupa e a retirar tudo o que fosse vagamente relacionado com os animais. Assegurando-se de que eu tomava a minha dose diária de vitaminas e tofu. Verificando se eu comia arroz e pão integral. Seria amoroso. Pelo menos uma distracção.
- Então diz-me o que queres fazer - pediu Cherokee com ar desesperado. - O quê, diz-me.
Estavam diante um do outro, Cherokee de pé e a irmã sentada, mas ele parecia muito mais pequeno, quando comparado com ela. Talvez, pensou Deborah, fosse um reflexo das suas personalidades que fizesse Deborah parecer uma figura tão extraordinária.
- Farás o que tens a fazer - disse-lhe China.
Foi ele quem primeiro afastou o olhar. Durante aquele silêncio, Deborah reflectiu na natureza das relações fraternais. Sentia-se um peixe fora de água no que dizia respeito a compreender o que se passava entre irmãos e irmãs.
- Alguma vez quiseste voltar atrás no tempo, Debs? - perguntou China ainda a olhar para o irmão.
- Acho que toda a gente deseja isso, de vez em quando.
- E que tempo escolherias? Deborah reflectiu.
- Houve uma Páscoa antes de a minha mãe ter morrido... uma festa no parque da aldeia. Havia passeios de pônei a cinqüenta pence e eu tinha exactamente esse dinheiro. Sabia que se o gastasse, desapareceria completamente em três minutos com uma volta ao recinto dos pôneis e não teria mais para gastar. Não conseguia decidir o que fazer. Fiquei aborrecida e preocupada porque qualquer decisão que eu tomasse poderia ser errada, e eu lamentá-la-ia e sentir-me-ia infeliz. Então eu e a minha mãe falámos do assunto. Não há decisões erradas, disse-me ela. Só o que decidimos e o que aprendemos com essa decisão. - Deborah sorriu ao recordar-se. - Voltaria a esse momento e, se pudesse, viveria novamente a partir daí. Esperaria que, desta vez, ela não morresse.
- E então o que fizeste? - perguntou Cherokee. - Foste andar de pônei, ou não?
Deborah ficou a pensar.
- Não é estranho? Não me lembro. Parece-me que afinal o pônei não era assim tão importante para mim. O que foi importante foi o que ela me disse. Era assim que ela era.
- Tiveste sorte - disse China.
- Sim - replicou Deborah.
Soou uma pancada na porta, seguida de um toque da campainha que lhes pareceu insistente. Cherokee foi ver quem era.
Abriu a porta e encontrou lá fora dois agentes de uniforme, um deles com ar ansioso, como se temesse uma armadilha e o outro dando pequenos golpes com o bastão na palma de uma das mãos.
- Senhor Cherokee River? - perguntou o agente do bastão. Não esperou pela resposta, pois era evidente que sabia com quem estava a falar. - O senhor tem de nos acompanhar.
- O quê? Onde? - perguntou Cherokee.
- Cherokee? O quê... - China erguera-se, mas não precisara de terminar a sua pergunta.
Deborah foi ter com ela e passou o braço pela cintura da amiga.
- Por favor, o que se passa?
Foi nesse momento que a Polícia do Estado de Guernsey leu a acusação formal feita a Cherokee River.
Tinham trazido algemas, mas não as usaram.
- Queira vir connosco, por favor - disse um deles.
O outro pegou em Cherokee por um braço e levou-o dali.
Capítulo 20
AS CASAS QUE SERVIAM DE ARMAZÉM JUNTO À AZENHA ESTAVAM POUCO iluminadas porque geralmente Frank não trabalhava dentro de nenhuma delas ao fim da tarde ou à noite. Mas não precisava de muita luz para encontrar aquilo que procurava por entre os papéis que se encontravam dentro do armário de arquivo. Sabia onde estava o documento e para seu inferno pessoal também lhe conhecia o conteúdo.
Retirou-o lá de dentro, metido numa pasta fina que o protegia como uma camada de pele macia. Porém, o seu esqueleto era constituído por um velho envelope de cantos rasgados e já sem o seu pequeno fecho de metal.
Durante os últimos dias da guerra, as forças da ocupação da ilha tinham mostrado um orgulho incomensurável que não podia deixar de surpreender, tendo em conta as derrotas alemãs que se amontoavam por toda a parte. Em Guernsey tinham a princípio recusado render-se, tão decididas estavam a não acreditar que o seu plano para o domínio europeu e perfeição eugénica tivessem falhado completamente. Quando o major-, -general Heine subiu por fim a bordo do HMS Bulldog para negociar os termos da sua rendição na ilha, já tinha passado todo um dia após a vitória ter sido declarada e celebrada no resto da Europa.
Agarrando-se ao pouco que tinham deixado naqueles últimos dias e talvez querendo deixar a sua marca na ilha, como todos os sucessivos ocupantes já o tinham feito através dos séculos, os alemães não destruíram o que tinham produzido. Algumas criações, como a colocação de canhões eram impossíveis de demolir. Outras - como o que Frank tinha nas mãos - serviam de mensagem muda para mostrar que havia pessoas cujos interesses próprios tinham ultrapassado os sentimentos de fraternidade e que, como tal, haviam levado a cabo acções para servir a causa alemã. Os ocupantes não se importavam que eles o tivessem feito de um modo impreciso. O que contava era o valor de essa traição estar escrita preto no branco numa caligrafia grande e angulosa.
A maldição de Frank era o respeito pela história que o levara a tirar o curso na universidade e depois a ensiná-la durante quase trinta anos a jovens quase todos eles indiferentes. Era o mesmo respeito que lhe tinha sido inculcado pelo pai. Era o mesmo respeito que o tinha levado a juntar uma colecção que esperara que pudesse servir de recordação muito depois de ele ter partido.
Sempre acreditara no aforismo que diz que se deve lembrar o passado para não se correr o risco de o repetir. Vira sempre nos conflitos armados deste mundo a incapacidade do homem reconhecer a futilidade da agressão. A invasão e o domínio resultavam na opressão e no rancor. Daí provinha a violência em todas as suas formas, mas nunca o bem. Frank sabia-o e acreditava nisso com todo o fervor. Comportava-se como um missionário que tenta inculcar em seu redor os princípios que lhe haviam ensinado a respeitar e o seu púlpito fora construído a partir dos artigos da guerra que coleccionara pelos anos fora. Que estes objectos falem por si, decidira. Que as pessoas os possam ver. Para que nunca esqueçam.
Assim, como os alemães que o antecederam nada destruíra. Compilara uma enorme quantidade de coisas e não sabia exactamente onde estava cada uma delas. Se estavam relacionadas com a guerra e a Ocupação, queria-as.
Nem sabia exactamente o que tinha entre a sua colecção. Durante muito tempo pensou naquilo apenas em termos genéricos. Armas, uniformes, punhais, documentos, balas, utensílios, chapéus. Só quando Guy Brouard apareceu é que começou a pensar de modo diferente.
Frank, isto poderia ser uma espécie de monumento. Uma coisa que servisse para distinguir a ilha e as pessoas que aqui sofreram. Já para não falar nos que morreram.
Era aquela a ironia. Era aquela a causa.
Frank pegou no envelope e sentou-se numa cadeira de verga quase podre. Junto desta estava um candeeiro de pé, já com o abajur desbotado e a franja rota e ele acendeu-o e sentou-se. Uma luz amarelada caiu-lhe sobre o colo, onde poisara o envelope. Observou-o durante uns minutos antes de o abrir, retirando lá de dentro catorze frágeis folhas de papel.
Retirou uma de entre elas. Alisou-a e poisou as outras no chão. Examinou essa com uma intensidade que teria sugerido a um espectador não avisado que nunca a tinha visto antes. E porque a teria visto? Era um simples pedaço de papel.
6 Würsten, leu, Dutzend Eier, 2 kg. Mehl, 6kg. Kartoffeln, Ikg. Bohnen,
200 gr. Tabak. 1
Era de facto uma lista simples, metida entre as facturas de compras de toda a espécie de artigos, desde gasolina a tinta. Parecia ser um papel pouco importante no importante esquema das coisas, um papelinho que poderia ter desaparecido sem que ninguém desse por nada. Porém, para Frank era revelador, até mesmo da arrogância dos ocupantes da ilha, que documentavam cada movimento e guardavam aqueles documentos para o dia da vitória cujos apoiantes gostariam de poder identificar.
Se Frank não tivesse passado os anos da sua adolescência e solitária idade adulta a aprender o valor inestimável de tudo remotamente ligado ao tempo de provação a que a ilha fora submetida, poderia ter perdido deliberadamente aquele bocado de papel e ninguém se teria apercebido. Mas, mesmo assim, ele teria sabido que existira e nada apagaria esse facto.
Se os Ouseley não tivessem considerado a possibilidade de um museu, o papel teria certamente ficado por descobrir, mesmo pelo próprio Frank. Mas assim que ele e o pai tinham recebido a oferta de Guy Brouard para construir o Museu da Guerra Graham Ouseley para a educação e aperfeiçoamento dos presentes e futuros cidadãos de Guernsey,
O trabalho indispensável de escolha e classificação tinha começado. Durante esses procedimentos tinha vindo à luz a tal lista. 6 Würsten, 1 Dutzend Eier, 2 kg. Mehl, 6 kg. Kartoffeln, kg. Bohnen, 200 gr. Tabak.
Fora Guy que encontrara a lista, fora ele que dissera: "Frank, que acha disto?", porque não sabia falar alemão.
Fora o próprio Frank que lhe oferecera a tradução, fazendo-a distraída e automaticamente, sem uma pausa para ler todas as linhas, sem uma pausa para tecer considerações. Apercebeu-se do significado quando a última palavra - Tabak - lhe saiu dos lábios. Ao ter consciência das implicações ergueu os olhos, primeiro para o alto da folha e depois dirigiu-os para Guy que já o tinha lido. Guy que perdera os pais por causa dos alemães, perdera toda a família, perdera toda a sua herança.
1 6 Salsichas, dúzia de ovos, 2 kg de farinha, kg de batatas, kg de feijão, 200 gr de tabaco. Em alemão no original. [N. da T. ]
- Que vai fazer com isso? - perguntou Guy. Frank não respondeu.
- Vai ter de o fazer - disse Guy. - Não pode deixar escapá-lo. Meu Deus, Frank, não tenciona passar por cima disto, pois não?
Fora essa a cor e o sabor dos seus dias a partir daí. Já tratou do assunto, Frank? Já lhe falou nisso?
Frank pensou que agora não teria de o fazer, com Guy morto e enterrado, sendo o único que sabia do assunto. De facto, pensou que nunca teria de o fazer. Mas o ultimo dia tinha-lhe ensinado outra coisa. Quem quer esquecer o passado está condenado a revivê-lo. Pôs-se de pé. Colocou os outros papéis no envelope que por sua vez meteu na respectiva pasta. Fechou o arquivo e apagou a luz. Fechou a porta quando saiu.
Dentro da sua própria casa, encontrou o pai adormecido na cadeira. Na televisão passava uma série policial americana: dois polícias de blusão em cujas costas se lia a sigla NYPD - de armas em riste - rebentavam violentamente com uma porta. Noutra ocasião, Frank teria acordado o pai para o levar lá para cima. Contudo, passou por ele e foi em busca da solidão do seu quarto.
Sobre a sua cômoda havia duas fotografias emolduradas. Uma era dos pais, no dia do casamento, depois da guerra. Na outra, Frank e o pai posavam na base de uma torre de observação alemã perto de um dos extremos da Rue de Ia Prevote. Frank não se recordava de quem tinha tirado a fotografia, mas lembrava-se daquele dia. Chovera pedra, mas, mesmo assim, eles tinham subido o trilho do rochedo e, quando chegaram, o sol começara a brilhar. Era sinal que Deus aprovara aquela peregrinação.
Frank encostou a lista que retirara do armário de arquivo à segunda fotografia. Afastou-se, como um sacerdote que não queria voltar as costas à hóstia consagrada. Recuou até encontrar a cama e sentou-se. Olhou fixamente para o documento esforçando-se por não escutar o desafio daquela voz.
Não pode deixar passar isto.
E ele sabia que não podia. Porque É a causa, minha alma. Frank tinha uma experiência limitada do mundo, mas não era um homem ignorante. Sabia que o espírito humano era um animal curioso que pode muitas vezes agir como uma casa de espelhos quando os pormenores são demasiado dolorosos para recordar. O espírito pode negar, refazer ou esquecer. Se necessário, pode criar um universo paralelo. Pode fabricar uma realidade separada para qualquer situação que lhe seja difícil suportar. Frank sabia que, mesmo assim, o espírito não mentia. Limitava-se a arranjar uma estratégia para agüentar.
Os problemas começavam quando a estratégia ocultava a verdade em vez de agir como uma protecção temporária. Daqui resultava o desespero. Reinava a confusão. Seguia-se o caos.
Frank sabia que estavam à beira do caos. Tinha chegado o momento de agir, mas sentia-se imobilizado. Entregara a vida ao serviço de uma quimera e apesar de ter sabido dois meses antes, não conseguia aceitá-lo.
Agora o expor da verdade tornaria insignificante mais de meio século de devoção, admiração e crença. Transformaria um herói num miserável, cuja vida terminaria publicamente numa desgraça.
Frank sabia que poderia impedir tudo aquilo. Afinal, havia apenas um bocado de papel entre a fantasia de um homem e a verdade.
Em Fort Road foi uma mulher atraente, apesar de estar no fim do tempo de gravidez, que veio abrir a porta da casa de Bertrand Debiere. Era Caroline, a mulher do arquitecto, disse a St. James. Bertrand estava no jardim das traseiras com os filhos. Estava a tomar conta deles durante umas horas para ela poder escrever descansada. Nesse aspecto era um marido exemplar. Perguntava a si própria como tivera a sorte de se casar com ele.
Caroline Debiere reparou nas enormes folhas de papel que St. James trazia enroladas debaixo do braço. Perguntou-lhe se viera falar de trabalho e a voz dela denotava alguma ansiedade para que fosse esse o caso. O marido era um óptimo arquitecto, disse ela a St. James. Quem quisesse um edifício novo, a renovação de um antigo, ou a extensão de uma estrutura já existente não se enganaria se contratasse Bertrand Debiere para a desenhar.
St James disse-lhe que desejava que o senhor Debiere examinasse umas plantas já existentes. Telefonara para o ateliê mas a secretária informara-o de que o senhor Debiere já não voltaria naquele dia. Procurara na lista telefônica e tomara a liberdade de o vir visitar a casa. Esperava não estar a ser inconveniente...
De modo algum. Caroline iria buscar Bertrand ao jardim se o senhor St. James não se importasse de esperar na sala.
Nas traseiras soou um grito de alegria, seguido do barulho surdo do martelo na madeira. Ao ouvir aquilo, St. James disse que não queria interromper o senhor Debiere, por isso se ela não se importasse iria ter com ele e com os filhos ao jardim.
Caroline Debiere pareceu ficar aliviada ao ouvir aquilo, pois poderia continuar a trabalhar sem a presença das crianças junto de si. Mostrou a St. James o caminho para as traseiras e deixou-o para que fosse ter com o marido.
Bertrand Debiere era afinal um dos dois homens que St. James tinha visto seguirem o enterro até à sepultura de Guy Brouard e ter ficado numa conversa animada em Lê Reposoir no dia anterior. Era um homem tão alto e tão magro que mais parecia uma personagem de um romance de Charles Dickens e, naquele momento, encontrava-se sobre o ramo de um sicómoro tratando de começar a construir na árvore aquilo que provavelmente iria ser uma casa para os seus filhos. Eram dois e ajudavam-no como era costume as crianças fazerem-no. O mais velho entregava-lhe pregos que retirava de uma bolsa de cabedal que tinha ao ombro, enquanto o mais novo batia com um martelo de plástico num bocado de madeira na base da árvore enquanto cantarolava "Martelo, martelo, martelo nos pregos" sem qualquer préstimo para o pai.
Debiere viu St. James atravessar a relva, mas acabou de martelar o prego antes de se voltar para ele. St. James reparou que o olhar do arquitecto se fixava na sua deficiência - o aparelho da perna que passava pelo tacão do sapato - mas que depois poisou sobre o rolo de papéis que St. James trazia debaixo do braço.
Debiere desceu de cima da árvore e disse ao miúdo mais velho.
- Bert, leva o teu irmão para dentro. A mãe já deve ter aquelas bolachas para vocês. Mas comam só uma cada um, para as guardarem para o lanche.
- As de limão? - perguntou o rapaz mais velho. - Ela fez as de limão, pai?
- Acho que sim. Não foram essas que vocês pediram?
- As de limão! - murmurou Bert para o irmão mais novo.
A promessa das bolachas fez com que os dois miúdos deixassem o que estavam a fazer para se dirigirem aos saltos até casa.
- Mama! Mama! - gritaram. - Queremos as nossas bolachas. - O descanso da mãe chegaria ao fim.
Debiere lançou-lhes um olhar afectuoso, depois pegou no saco de pregos que Bert tinha deixado por ali, depois de ter despejado metade deles na relva.
Enquanto Debiere apanhava os pregos, St. James apresentou-se e explicou a sua ligação a China River. Estava em Guernsey a pedido do irmão da acusada, disse a Debiere, e a polícia tinha conhecimento de que ele andava a fazer investigações independentes.
- Que espécie de investigações? - perguntou Debiere. - A polícia já tem o assassino.
St. James não desejava prosseguir esse rumo de conversa. Apontou para o rolo de plantas que trazia debaixo do braço e perguntou ao arquitecto se não se importava de lhes dar uma olhadela.
- De que trata?
- Da planta escolhida pelo senhor Brouard para o museu da guerra. Ainda não a viu, pois não?
Ele vira apenas aquilo que tinham visto os outros convidados da festa de Brouard: o desenho pormenorizado e a três dimensões do edifício concebido pelo seu colega americano.
- Uma autêntica porcaria - disse Debiere. - Não sei qual era a idéia do Guy quando se decidiu por ele. Era tão adequado como um vaivém espacial para o museu de Guernsey. Janelas enormes na fachada. Tectos de catedral. O edifício custaria uma fortuna a aquecer, já para não mencionar o facto de que toda a estrutura parecia uma coisa desenhada para assentar numa falésia e beneficiar da vista.
- E a verdadeira localização do museu seria...
- No fim do caminho de St. Saviour's Church, mesmo ao lado dos túneis. Isto é o mais longe possível dos rochedos e do mar que poderia localizar-se numa ilha com estas dimensões.
- E a vista?
- Que vista? A menos que considere vista o parque de estacionamento dos túneis.
- Falou das suas preocupações com o senhor Brouard? A expressão de Debiere era agora cautelosa.
- Falei com ele. - Sopesou na mão a bolsa dos pregos, como se estivesse a pensar se haveria ou não de a guardar para voltar ao trabalho da casa da árvore. Um olhar rápido para o céu, mostrou-lhe que a pouca luz que restava não lhe permitiria continuar a construção. Começou a juntar os bocados de madeira que estavam espalhados pela relva na base da árvore. Levou-os para um enorme oleado que ficava de um lado do jardim e empilhou-os aí.
- Disseram-me que as coisas, entre o senhor e ele, foram um pouco mais graves - disse St. James. - Que tinham discutido logo depois do fogo-de-artifício.
Debiere não respondeu. Continuou a empilhar a madeira com toda a paciência.
- Era a m-m-mim que o maldito projecto deveria ter sido encomendado. Toda a gente sabia disso. P-p-por isso quando foi para outra pessoa... - Voltou-se para o sicómoro junto ao qual St. James aguardava e encostou uma mão ao tronco. Calou-se por uns instantes parecendo querer controlar a gaguez. - Uma casa na árvore - disse como resultado dos seus esforços. - Aqui estou eu a construir uma maldita casa sobre uma árvore.
- O senhor Brouard disse-lhe que lhe entregaria o projecto? - perguntou St. James.
- Se me disse directamente? Não. F-f-f... - Parecia desgostoso. Pouco depois voltou a tentar. - O Guy não fazia isso. Nunca prometia. Limitava-se a sugerir. Fazia-nos acreditar que tínhamos possibilidades. Faça isto, homem, e vai ver que as coisas acontecem.
- No seu caso, o que aconteceria?
- Independência. Um ateliê próprio. Não teria de voltar a trabalhar para a glória de outra pessoa; só para expor as minhas idéias no meu próprio espaço. Ele sabia que era isso que eu queria e encorajou-me. Afinal era um empresário. Porque não poderíamos nós sê-lo também? - Debiere examinou a casca do sicómoro e soltou uma gargalhada amarga. - Por isso deixei o emprego e estabeleci-me por conta própria. Se ele correra riscos na sua vida eu também os poderia correr. Claro que para mim seria mais fácil se acreditasse que estava seguro com a encomenda de um trabalho tão importante.
- Disse que não deixaria que ele o arruinasse - recordou-lhe St. James.
- Foram as palavras que ouviram na festa? - perguntou Debiere. Não me lembro do que disse. Só de dar uma olhadela a essa planta em vez de a elogiar até mais não como todos os outros. Vi que não era apropriada e não percebi porque a tinha escolhido quando ele dissera... quando ele... ele quase prometera. E lembro-me de s-s-sentir... - deteve-se. Agarrava a árvore com tanta força que tinha os nós dos dedos brancos.
- Agora que ele morreu, vão construir o museu? - perguntou St. James.
- Não sei - respondeu. - O Frank Ouseley disse-me que o testamento não contemplava o museu. Não creio que o Adrian se preocupe em criá-lo, portanto só se a Ruth quiser continuar o projecto.
- Imagino que ela não recuse as sugestões.
- O Guy tornou bastante claro que o museu era importante para ele. Acredite que ela não precisa que eu lho diga.
- Não estou a falar da sugestão para construir o museu - disse St. James. - Mas sim das alterações à planta. Talvez possa aceitar sugestões que o irmão não aceitaria. Não tenciona falar com ela ou já o fez?
- Tenciono - disse Debiere. - Não tenho outra alternativa.
- Então porquê?
- Olhe à sua volta senhor St. James. Tenho dois filhos e um terceiro * a caminho. Uma mulher a quem convenci que deixasse o emprego para escrever um romance. Uma hipoteca aqui e um ateliê em Trinity Square onde a minha secretária espera que eu lhe pague de vez em quando, Preciso dessa encomenda e, se não a conseguir, irei falar com a Ruth. Sim. vou apresentar-lhe o meu caso. Farei o que for preciso.
Certamente que se apercebera do significado da sua última afirmação pois afastara-se abruptamente da árvore e regressara para junto da pilha de madeira que se encontrava no relvado. Puxou os lados do oleado azul para tapar a pilha de tábuas, mostrando a corda bem enrolada no chão que usou para atar a manga de plástico por cima da madeira. Depois começou a apanhar as ferramentas.
St. James seguiu-o enquanto ele pegava no martelo, nos pregos, no nível e na fita métrica para guardar tudo num telheiro ao fundo do jardim. Debiere colocou tudo sobre uma bancada e foi então que St. James abriu a planta que trouxera de Lê Reposoir. A sua intenção principal era saber se as complicadas janelas de Henry Moullin poderiam ser usadas no edifício que Guy Brouard tinha escolhido, mas via agora que ele não deveria ser a única pessoa para quem a construção do museu da guerra poderia ter uma extrema importância.
- Estas plantas são as que o arquitecto americano enviou ao senhor Brouard - disse. - Não percebo nada de arquitectura. Importa-se de as ver e de me dizer o que acha? Parece que há aqui várias.
- Já lhe disse.
- Pode ser que queira acrescentar alguma coisa depois de as ver.
Os papéis eram grandes, com mais de um metro de comprimento e quase o mesmo de largura. Debiere suspirou, mas acedeu a examiná-los e pegou num martelo para segurar as pontas.
Não se tratavam das cópias habituais. Debiere informou-o que essas já não eram usadas como acontecera com o papel químico e as máquinas de escrever manuais. Estes documentos eram a preto e branco e pareciam ter saído de uma gigantesca fotocopiadora; à medida que os folheava, Debiere identificava-os: o esquema de cada andar do edifício; os documentos de construção com etiquetas que mostravam a planta do tecto, o esquema da instalação eléctrica, o esquema da canalização, as várias secções; a planta do terreno onde o edifício seria construído, a sua elevação.
Debiere abanava a cabeça enquanto os folheava.
- Que ridículo - murmurou. - Mas o que estava esse idiota a pensar? - Apontou para as dimensões caricatas dos aposentos individuais que o edifício continha. - Como quereria ele que este lugar servisse de galeria - perguntou indicando as divisões com uma chave de parafusos.
- Ou como sala de exposições? Ou fosse lá que diabo é que estava destinado a ser? Veja bem. Aqui caberiam apenas três pessoas, mais nada. Não é maior do que uma cela. E todas as divisões são assim.
St. James examinou o esquema que o arquitecto lhe indicava. Reparou que nada estava identificado na planta e perguntou a Debiere se aquilo era normal.
- Não é costume designar-se aquilo que cada uma das divisões virá a ser? - perguntou. - Porque é que isso falta nestes desenhos?
- Vá-se lá saber! - exclamou Debiere. - Acho que é um trabalho de má qualidade. Não me surpreende que ele tenha apresentado o seu trabalho sem sequer querer visitar o local. E olhe para isto... - Puxou uma das folhas, colocou-a por cima das outras e apontou com a chave de parafusos. - Isto será um pátio com uma piscina? Por amor de Deus! Gostaria de ter uma conversa com este idiota. Provavelmente desenha casas em Hollywood e pensa que este lugar não ficará completo sem que umas miúdas de vinte anos não tenham um sítio para se porem a apanhar sol de biquíni. Que desperdício de espaço. Isto está uma desgraça. Nem acredito que o Guy... - franziu a testa. De súbito, inclinou-se sobre a planta e olhou-a mais de perto. Pareceu procurar qualquer coisa que, no entanto, não parecia fazer parte do edifício porque Debiere procurou nos quatro cantos do papel e depois nas margens.
- Mas que coisa tão estranha. - Puxou uma folha para o lado para poder examinar a que estava por baixo. Passou depois à seguinte e depois à outra. Por fim, ergueu os olhos.
- Que se passa? - perguntou St. James.
- Deviam estar seladas - disse Debiere. - Todas elas. Mas não estão. Nenhuma delas.
- O que quer dizer com isso? Debiere apontou para as plantas.
- Quando as completa, o arquitecto põe-lhes um selo e assina o nome por cima.
- Trata-se de uma formalidade?
- Não. É essencial. É assim que se sabe que os planos são legítimos. Não podem ser aprovados pelas comissões de planeamento, nem é possível arranjar licenças de construção. E de certeza que será impossível que um mestre-de-obras se queira encarregar da obra.
- Então, se não são legítimas, de que poderá isto tratar-se? - perguntou St. James ao arquitecto.
Debiere olhou para St. James e depois para as plantas.
- Foram roubadas - declarou.
Ficaram ambos em silêncio, contemplando os documentos, os esquemas, os desenhos que se encontravam sobre a mesa de trabalho. Lá fora, uma porta bateu e uma voz exclamou.
- Papá! A mama também fez um bolo.
Debiere ergueu-se quando ouviu a voz do filho. Tinha a face enrugada, tentando compreender aquilo que parecia tão incompreensível: uma enorme reunião de habitantes da ilha e de outras pessoas em Lê Reposoír, uma festa de gala, um comunicado surpreendente, o lançamento de fogo-de-artifício para comemorar a ocasião, a presença de todas as pessoas importantes de Guernsey, a cobertura dos jornais e da televisão da ilha.
- Papá! Papá! - gritavam os filhos. - Vem lanchar! - Mas Debiere não parecia ouvi-los.
- Afinal, o que pretendia ele fazer? - murmurou.
A resposta àquela pergunta permitiria lançar um pouco mais de luz sobre o assassínio.
Encontrar um advogado não foi muito difícil. Depois de deixar o Land Rover no parque de estacionamento de um hotel em Ann's Place, Margaret Chamberlain e o filho desceram uma encosta e subiram outra. Passaram pela Royal Court House, o que permitiu a Margaret constatar que certamente encontraria advogados naquela parte da cidade. Pelo menos Adrian não era completamente idiota. Sozinha teria ficado reduzida à lista telefônica e a um mapa das ruas de St. Peter Port. Teria de telefonar e não poderia ver como a sua chamada seria recebida do outro lado da linha. Contudo, assim, não precisou disso. Pôde atacar a sua cidadela e escolher alguém conveniente para a sua missão.
E a escolha acabou por cair sobre os escritórios de Gibbs, Grerson & Godfrey. A aliteração não era muito elegante, mas a porta de entrada parecia imponente e os dizeres na placa metálica de natureza agressiva que sugeriam a força que a missão de Margaret requeria. Sem ter hora marcada, entrou com o filho e pediu para ser atendida por um dos membros da sociedade. Ao fazer o seu pedido, sufocou o desejo de ordenar a Adrian que se pusesse direito, tentando convencer-se de que ele já fizera um excelente esforço ao tentar agarrar aquela ferazinha que se chamava Paul Fielder.
Teve o azar de nenhum dos três fundadores se encontrarem nos seus gabinetes naquela tarde. Um deles tinha até morrido quatro anos antes, e os outros dois estavam fora a tratar de importantes assuntos legais. Mas um dos advogados mais jovens poderia atender a senhora Chamberlain e o senhor Brouard.
Margaret quis saber até que ponto o advogado era mais novo.
Era apenas um termo que se costumava utilizar.
E realmente, advogado júnior era apenas uma designação, porque se tratava de uma mulher de meia-idade chamada Juditha Crown - "Ms Crown", disse-lhes - com um enorme sinal por baixo do olho esquerdo e um pouco de halitose que parecia proveniente de uma sanduíche de salame meio comida que se encontrava num prato de papel sobre a sua secretária. Enquanto Adrian se estiraçava numa cadeira, Margaret apresentou a razão da sua visita: um filho praticamente deserdado e uma herança desprovida de quase três quartos da fortuna que deveria fazer parte dela.
Isso, afirmou Ms Crown com um ar um pouco condescendente de mais para o gosto de Margaret, era pouco provável, senhor Chamberlain. O senhor Chamberlain...
O senhor Brouard, interrompeu Margaret. O senhor Guy Brouard de Lê Reposoir, freguesia de St. Martin. Ela era sua ex-mulher e aquele era o filho de ambos, Adrian Brouard, anunciou a Ms Crown e acrescentou com precisão que ele era o filho mais velho do senhor Brouard e o seu único varão.
Margaret sentiu alguma satisfação ao ver Juditha Crown endireitar-se e interessar-se pelo assunto nem que fosse metaforicamente. As pestanas da advogada estremeceram por baixo das lentes dos óculos. Olhou para Adrian com um interesse crescente e, naquele momento, Margaret sentiu-se agradecida a Guy por ter conseguido tanta coisa. Pelo menos reconheciam-lhe o nome e, por associação, reconheciam o filho.
Margaret explicou a situação a Ms Crown. Uma fortuna dividida ao meio, com duas filhas e um filho partilhando uma metade e dois desconhecidos - desconhecidos, repare, dois adolescentes daqui praticamente desconhecidos da família - partilhando igualmente a outra metade entre eles. Precisavam de fazer alguma coisa.
Ms Crown acenou afirmativamente com ar conhecedor e esperou que Margaret continuasse. Como Margaret não o fez, Ms Crown perguntou se havia uma esposa actual. Não? Então - entrelaçou as mãos sobre o tampo da secretária e um sorriso de delicadeza formou-se-lhe nos lábios - não parecia haver nada de irregular no testamento. As leis de Guernsey ditavam o modo em que a propriedade podia ser legada. Segundo elas, metade teria de ir para a descendência legal do testamentário. Nos casos em que não houvesse um cônjuge a outra metade poderia ser dividida de acordo com os caprichos do testamentário. Seria provavelmente o que o cavalheiro em questão teria feito.
Margaret teve consciência da presença do filho, da inquietação que nessa altura o invadiu e que o levou a meter a mão no bolso para tirar de lá uma carteira de fósforos. Pensou mesmo que ele se dispusesse a fumar apesar de não haver um cinzeiro à vista na sala, mas afinal viu-o limpar as unhas com o canto do cartão. Ao ver isto, Ms Crown fez uma careta de desagrado.
Margaret teve vontade de censurar o filho, mas limitou-se a dar-lhe uma pisadela. Ele afastou o pé. Ela aclarou a voz.
Disse à advogada que a divisão da herança prescrita na lei era apenas parte das suas preocupações. Havia o assunto mais premente daquilo que faltava ao que legalmente deveria ser a herança e não importava quem o recebera. O testamento não mencionava toda a fortuna - a casa, os móveis e as terras que constituíam Lê Reposoir. Não fazia menção das propriedades que Guy tinha em Espanha, Inglaterra, França, nas ilhas Seicheles e sabe Deus onde mais. Não falava em bens pessoais como automóveis, barcos, um avião, um helicóptero, nem pormenorizava o número significativo de antigüidades, prata, arte, moedas que Guy juntara pelos anos fora. Decerto que tudo aquilo deveria estar no testamento de um homem que era afinal um empresário de sucesso que tinha feito milhões no decorrer da sua carreira. Contudo o seu testamento consistira apenas numa conta-poupança, numa conta à ordem e numa conta de investimentos. Como poderia Ms. Crown justificar uma coisa daquelas?
Ms Crown pareceu ficar pensativa apenas por uns instantes e perguntou imediatamente a Margaret se ela estava certa desses factos. Margaret disse com ar ofendido que, com certeza que estava. Não andaria por ali a correr querendo contratar um advogado sem primeiro se ter assegurado dos factos. Como dissera a princípio, faltavam pelo menos três quartos da fortuna de Guy Brouard e tencionava fazer qualquer coisa a esse respeito em prol de Adrian Brouard, filho mais velho e único herdeiro varão.
Nesse momento, Margaret olhou para Adrian em busca de alguma espécie de murmúrio de aprovação ou de entusiasmo. Mas ele baloiçava o pé direito sobre o joelho esquerdo, exibindo uns centímetros pouco atraentes de perna cuja pele era de um branco leitoso, e nada disse. A mãe reparou que ele não calçara peúgas.
Juditha Crown olhou para a pele inerte da perna do seu potencial cliente e, diga-se em abono da verdade, conseguiu não estremecer. Voltou a sua atenção para Margaret e disse que se a senhora Chamberlain esperasse um momento, ela tinha uma coisa que talvez pudesse ajudar.
Margaret pensou que o que precisava era de energia. De energia para injectar naquela massa mole que era o seu filho. Mas disse para a advogada, sim, sim, qualquer coisa que a ajudasse seria bem-vinda e se Ms. Crown estivesse demasiado ocupada para se ocupar daquele caso talvez lhes pudesse aconselhar...
Ms Crown deixou-os sós enquanto Margaret ainda fazia o seu apelo. Fechou delicadamente a porta atrás de si e, enquanto o fazia, Margaret ouviu-a falar com um empregado na antecâmara.
- Edward, onde temos aquele documento sobre o Retrait Linager que costuma enviar aos clientes? - Não se ouviu a resposta do funcionário.
Margaret aproveitou aquele intervalo no processo para dizer ao filho com ar irritado.
- Podias participar. Podias tornar as coisas mais fáceis.
Na cozinha de Lê Reposoir tinha pensado por momentos que o filho tinha feito progressos. Combatera contra Paul Fielder como um homem e ela sentira florescer a esperança... mas esse sentimento fora prematuro. Tinha murchado imediatamente.
- Podias pelo menos parecer interessado no teu futuro - acrescentou.
- Não posso de modo algum acompanhar o teu interesse, mãe replicou laconicamente Guy.
- És de fazer perder a cabeça. Não admira que o teu pai... - deteve-se. Ele inclinou a cabeça para o lado e ofereceu-lhe um sorriso sardónico, mas nada disse pois Juditha Crown vinha ter com eles. Trazia nas mãos algumas folhas dactilografadas. Disse-lhes que era ali que estava explicado o Retrait Linager.
Margaret não estava interessada em mais nada senão em saber se a advogada aceitava ou recusava trabalhar para eles, para poder tratar do resto das coisas. Havia muito que fazer e ficar sentada no escritório de um advogado a ler explicações de estatutos não lhe agradava de sobremaneira. Mesmo assim, pegou nos papéis que a outra lhe estendia e procurou os óculos na mala. Enquanto isso, Ms Crown informava Margaret e o filho das ramificações legais de possuir ou dispor de uma grande fortuna enquanto residente em Guemsey.
Disse-lhes que a lei era dura para com aqueles que deserdavam a sua descendência naquela Ilha do Canal. Não só era também proibido vender os bens de qualquer maneira, tivesse ou não tido descendência, como também não poderia vender simplesmente toda uma fortuna anteriormente à sua morte na esperança de poder contornar a lei. Explicou que os filhos eram os primeiros a ter direito de compra pela quantia pedida, se o pai se decidisse a vender. Claro que se eles não tivessem dinheiro para a compra, o pai ficaria livre e poderia vender, oferecer, ou gastar tudo até ao último tostão. Mas em qualquer dos casos os filhos teriam primeiro de ser informados que ele pretendia dispor daquilo que, de contrário, seria a herança que lhes caberia. Aquilo salvaguardava a posse da propriedade dentro de uma única família, desde que a família tivesse dinheiro para a manter.
- Julgo que o seu pai não o tenha informado da sua intenção de vender antes da sua morte - disse Ms Crown directamente para Adrian.
- Claro que não! - disse Margaret.
Ms. Cown aguardou que Adrian confirmasse aquela afirmação. Disse que, se de facto fosse esse o caso que tinham diante deles, havia apenas uma explicação para aquilo que parecia ser o enorme quinhão em falta na herança. Havia mesmo apenas uma simples explicação. Que seria? perguntou delicadamente Margaret.
Que o senhor Broard nunca tinha possuído a fortuna que se suspeitava que ele possuísse, replicou.
Margaret ficou a olhar para a outra.
- Isso é um absurdo - disse. - Claro que era sua. Há muitos anos.
Isso e tudo o resto. Ele possuía... Veja bem. Ele não era inquilino de ninguém.
- Não estou a sugerir que o fosse - replicou Ms Crown. - Sugeri apenas que o que parecia pertencer-lhe... de facto, aquilo que sem dúvida foi ele que comprou durante estes anos todos que viveu aqui na ilha... foi de facto comprado por ele para outra pessoa. Ou comprado por outra pessoa sob as ordens dele.
Ao ouvir aquilo, Margaret sentiu-se invadida por um horror que não queria reconhecer, muito menos ter de enfrentar. Ouviu-se dizer em voz rouca.
- É impossível! - Sentiu que todo o seu corpo se erguia como se as pernas e os pés tivessem declarado guerra à sua capacidade de os controlar. Sem querer, inclinou-se sobre a secretária de Juditha Crown, respirando-lhe directamente para o rosto. - Isso é uma loucura completa, está a ouvir? É uma idiotice. Sabe quem ele era? Tem idéia da fortuna que ele juntou? Alguma vez ouviu falar do Chateaux Brouard? Hotéis em Inglaterra, Escócia, País de Gales, França e sabe Deus onde mais? O que era tudo isso se não o império do Guy? Quem mais o poderia possuir senão o Guy Brouard?
- Mãe... - Adrian também se pusera de pé. Margaret voltou-se e viu que ele vestia o casaco de cabedal, preparando-se para partir. - Já descobrimos o que...
- Não descobrimos coisa alguma! - exclamou Margaret. - O teu pai enganou-te toda a vida e não vou deixar que te engane depois de morto. Ele tem de ter contas escondidas e propriedades não declaradas e tenciono descobri-las. Quero que sejam para ti e nada... estás a ouvir?... nada me vai impedir de fazer com que isso aconteça.
- Ele foi mais esperto do que tu, mãe. Ele sabia...
- Nada. Ele não sabia de nada. - Margaret voltou-se para Juditha Crown como se a advogada fosse a pessoa que lhe tinha estragado os planos. - Então quem? - perguntou. - Quem? Uma das suas putazinhas? É isso que está a sugerir?
Ms Crown parecia compreender aquilo de que Margaret estava a falar, mesmo sem que ela lhe explicasse.
- Atrevo-me a dizer que teria de ser alguém em quem ele confiasse inteiramente. Alguém que fizesse aquilo que ele queria que fosse feito com a sua propriedade, estivesse no nome de quem estivesse.
Naturalmente que havia apenas uma pessoa. Margaret sabia-o mesmo sem que essa pessoa fosse identificada e supunha que o soubera desde a leitura daquele testamento na sala do primeiro andar. Havia apenas uma alma à face da terra em quem Guy poderia ter confiado o suficiente para lhe oferecer todos os seus bens depois de os ter comprado, sabendo que ela não lhes mexeria, e que seriam divididos segundo os seus desejos depois da sua morte... ou antes se ele lho pedisse.
Porque não pensara naquilo? perguntou Margaret a si própria.
Mas a resposta era muito simples. Não pensara naquilo porque não conhecia a lei.
Saiu intempestivamente do escritório e depois para a rua, irritada dos pés à cabeça. Mas não estava derrotada. Nem por sombras estava derrotada e queria esclarecer tudo aquilo com o filho. Voltou-se para ele.
- Vamos imediatamente falar com ela. Ela é tua tia. Sabe o que é justo. Se é que ainda não se apercebeu de toda esta injustiça... ela sempre o considerou um deus... ele era desequilibrado e conseguiu escondê-lo dela. Escondeu-o de toda a gente, mas nós vamos provar...
- A tia Ruth já sabia - disse Adrian em tom cortante. - Compreendeu o que ele queria. Cooperou com ele.
- Não pode ser. - Margaret agarrou-lhe o braço com força para ver se o fazia compreender. Era tempo de ele se preparar para a batalha. E se ele era um incapaz, ela fá-lo-ia por ele.
- Ele deve ter-lhe dito... - O quê? perguntou a si própria. O que teria Guy dito à irmã que a levasse a acreditar que aquilo que fizera fora para o melhor: para o bem dele, para o bem dela, para o bem dos filhos, para o bem de todos? O que lhe teria dito?
- Está feito - disse Adrian. - Não podemos mudar o testamento dele. Não podemos mudar o modo como ele fez as coisas. Não podemos fazer nada senão deixar tudo como está - meteu a mão dentro do bolso do casaco e tirou de lá a caixa de fósforos e um maço de cigarros. Acendeu um e soltou uma gargalhada, embora a sua expressão estivesse longe de ser divertida.
- Ora o pai - disse, abanando a cabeça. - Pregou-nos a partida a todos.
Margaret estremeceu ao ouvir o tom de voz dele, tão desprovido de emoção. Resolveu seguir outra táctica.
- Adrian, a Ruth é uma boa alma. Tem um coração justo. Se souber o que isto te magoa...
- Não magoa. - Adrian retirou uma partícula de tabaco que se lhe tinha colado à língua, inspeccionou-a na ponta do polegar e deitou-a fora.
- Não digas isso. Porque finges sempre que o teu pai...
- Não estou a fingir. É verdade que não me sinto magoado. De que serviria isso? E mesmo que estivesse magoado, que importância teria? Não iria mudar nada.
- Como podes dizer isso? Ela é tua tia. Gosta de ti.
- Ela estava lá - disse Adrian. - Ela sabia quais eram as intenções dele. E podes acreditar que não se vai desviar um centímetro. Ainda por cima sabendo já aquilo que ele queria naquela situação.
Margaret franziu a testa.
- Ela estava lá, onde? Quando? Em que situação?
Adrian afastou-se do edifício. Ergueu a gola do casaco por causa do frio e seguiu na direcção da Royal Court House. Margaret considerou aquilo um modo de ele evitar responder às suas perguntas e desconfiou. Ao mesmo tempo teve uma insidiosa sensação de desagrado. Deteve o filho junto do memorial da guerra e interpelou-o por baixo do olhar sombrio daquele melancólico soldado.
- Não me vires as costas assim. Ainda não terminámos. Que situação? Porque não me contaste?
Adrian lançou a beata na direcção de um grupo de scooters que estavam desorganizadamente estacionadas perto do memorial.
- O pai não queria que eu recebesse dinheiro - disse. - Não queria que eu o recebesse agora, nem nunca. A tia Ruth sabia-o. Por isso, mesmo que apelemos a ela... ao seu sentido de lealdade, de justiça, ou ao que lhe queiras chamar... ela vai lembrar-se do que ele queria e é isso que vai fazer.
- Como poderia ela saber aquilo que o Guy tencionava fazer na altura da sua morte? - perguntou Margaret, com uma expressão zangada.
- Oh, percebo que ela possa ter sabido o que ele tencionava fazer quando criou toda esta trapalhada. Teria de o saber para poder cooperar com ele nessa altura. Mas mais nada. Era isso que ele queria nessa ocasião. As pessoas mudam. Acredita que a tua tia Ruth vai perceber quando lhe expusermos o caso.
- Não. Não foi só nessa ocasião - disse Adrian e tentou afastar-se dela para se dirigir ao parque de estacionamento onde tinham deixado o Land Rover.
- Caramba, Adrian! Fica onde estás - disse Margaret e percebeu que a sua voz tremia, o que a aborreceu e fez com que a sua fúria se dirigisse a ele. - Temos de fazer planos para a abordar. Não podemos aceitar a situação que o teu pai criou como bons cristãos, oferecendo a outra face. Tanto quanto sabemos, um dia, por capricho, tratou das coisas assim e arrependeu-se imediatamente, mas não esperava morrer antes de ter reposto a legalidade. - Margaret respirou fundo e considerou as implicações daquilo que estava a dizer. - E forçosamente alguém o sabia - continuou ela. - Tem de ser. Alguém sabia que ele tencionava mudar tudo para te favorecer do modo que mereces ser favorecido. Por isso, Guy teve de ser eliminado.
- Ele não ia mudar nada - disse Adrian.
- Pára com isso! Como podes saber...
- Porque lhe pedi, pronto! - Adrian meteu as mãos nos bolsos e pareceu bastante infeliz. - Pedi-lhe - repetiu - E ela estava lá. A tia Ruth. Na sala. Ouviu-nos conversar. Ouviu-me pedir-lhe.
- Para mudar o testamento?
- Para me dar dinheiro. Ouviu tudo. Eu pedi. Ele disse que não tinha. Que não tinha o que eu queria. Que não tinha tanto. Eu não acreditei nele. Discutimos. Saí furioso e ele ficou... - Olhou para a mãe com uma expressão resignada. - Não pensas que eles não tenham conversado sobre o assunto logo a seguir, pois não? Ela deve ter dito: "O que vamos fazer com o Adrian?" e ele terá respondido: "Deixa as coisas como estão."
Para Margaret aquilo foi um balde de água fria.
- Pediste outra vez ao teu pai... Depois de Setembro? Voltaste a pedir-lhe dinheiro desde Setembro?
- Pedi. Ele recusou.
- Quando?
- Na noite antes da festa.
- Mas disseste-me que não tinhas... desde Setembro passado... - Margaret viu-o afastar-se de novo, de cabeça baixa, como tinha feito tantas vezes durante a sua infância perante uma legião de desilusões e derrotas. Queria enfurecer-se contra tudo, particularmente contra o destino que tinha tornado a vida de Adrian tão difícil. Porém, para além dessa reacção maternal, Margaret sentia qualquer coisa que não desejava sentir, nem queria correr o risco de identificar.
- Adrian! - disse ela - Tu afirmaste-me... - Recuou mentalmente na cronologia dos acontecimentos. O que tinha ele afirmado? Que Guy morrera antes de o filho ter tido a oportunidade de lhe pedir o dinheiro que necessitava para financiar o negócio. Acesso à Internet, a onda do futuro. Uma onda em que ele poderia navegar para que o pai se sentisse orgulhoso de ter produzido um filho tão visionário.
- Disseste-me que não tinhas tido oportunidade de lhe pedir dinheiro nesta visita.
- Menti - disse simplesmente Adrian. Acendeu outro cigarro e não olhou para ela
Margaret sentiu a garganta seca.
- Porquê?
Ele não respondeu.
Ela teve vontade de o abanar. Precisava de o obrigar a responder, porque só com uma resposta poderia descobrir o resto da verdade. Assim saberia com o que estava a lidar para fazer um movimento rápido e planear o que se poderia seguir. Mas, para além dessa necessidade de criar esquemas, de arranjar desculpas, de fazer tudo o que fosse preciso para proteger o filho, Margaret tinha consciência de um sentimento mais profundo.
Se ele lhe tinha mentido e falara com o pai, também lhe mentira sobre outras coisas.
Depois da sua conversa com Bertrand Debiere, St. James chegou pensativo ao hotel. A jovem recepcionista entregou-lhe uma mensagem, mas ele não a leu e subiu as escadas para ir para o quarto. Estava a tentar imaginar qual teria sido a intenção de Guy Brouard ao ter-se dado a tanto trabalho e despesas para obter um conjunto de documentos arquitectónicos que pareciam não ser legais. Tê-lo-ia sabido, ou fora vítima de um pouco escrupuloso empresário americano que lhe ficara com o dinheiro e lhe entregara as plantas para um edifício que ninguém poderia construir porque o desenho não era oficial? E o que significaria exactamente isso? Teria sido plagiado? Poder-se-ia plagiar a planta de um edifício?
Já no quarto, dirigiu-se ao telefone, e retirou do bolso as informações que extraíra a Ruth Brouard e ao inspector Lê Gallez. Encontrou o número de Jim Ward e ligou, enquanto organizava os seus pensamentos.
Ainda era manhã na Califórnia e o arquitecto parecia ter acabado de chegar ao ateliê.
- Acaba de chegar... - disse a mulher que atendeu o telefone. E depois. - Senhor W. Uma pessoa com uma pronúncia giríssima quer falar consigo... - depois novamente para o telefone. - Desculpe, mas de onde está o senhor a falar? Como disse que se chamava?
St. James disse, mais uma vez, que estava a telefonar de St. Peter Port, na ilha de Guernsey, no Canal da Mancha.
- Fantástico! - exclamou. - Só um segundo, sim? - E antes de ser enviado para o limbo, St. James ouviu-a perguntar. - Pessoal! Onde fica o canal da Mancha?
Passaram quarenta e cinco segundos, durante os quais St. James foi distraído por uma alegre melodia reggae que lhe entrava pelo auscultador do telefone. Depois a música foi abruptamente desligada e ouvi uma agradável voz de homem.
- Daqui Jim Ward. Posso ajudá-lo? É mais alguma coisa acerca de Guy Brouard?
- Então já falou com o inspector Lê Gallez - disse St. James. Passou a explicar quem era e o que fazia, envolvido numa situação daquelas na ilha de Guernsey.
- Acho que não posso ser-lhe de grande ajuda - disse Ward. - Como já disse ao inspector quando ele me telefonou, encontrei-me com o senhor Brouard apenas uma vez. O seu projecto pareceu-me interessante, mas limitei-me a arranjar-lhe essas amostras que foram enviadas. Estava à espera de saber se ele queria mais alguma coisa. Meti mais umas fotografias no correio para que ele examinasse vários outros edifícios que estou a construir a norte de San Diego. Mas mais nada.
- Amostras como? - perguntou St. James. - O que temos aqui... e estive a vê-lo hoje... parece-me ser um extenso conjunto de desenhos. Estive a examiná-los com um arquitecto daqui...
- E são extensos. Juntei todo um projecto do princípio ao fim para lhe mandar: pertence a um grande spa que está a ser construído aqui na costa. Juntei tudo excepto a memória descritiva. Disse-lhe que ficaria com uma idéia do meu trabalho, que era o que ele queria antes de me pedir que fizesse mais alguma coisa. Achei estranho, mas, como não tive qualquer problema em satisfazê-lo e poupava-me tempo para... St. James interrompeu-o.
- Está a dizer-me que o que foi enviado para cá não foi um conjunto de plantas para um museu?
Ward soltou uma gargalhada.
- Um museu? Não. Era um spa elegante. Daqueles para o pessoal que faz cirurgia plástica. Quando me pediu uma amostra do meu trabalho... um conjunto de plantas o mais completo possível... foi aquele que primeiro me veio à mão. E disse-lho. Disse-lhe que o que lhe ia enviar não seria aquilo que poderia fazer para um museu. Mas ele disse que estava bem. Qualquer coisa servia desde que estivesse completo e que ele fosse capaz de perceber para aquilo que estava a olhar.
- Então era por isso que as plantas não eram oficiais - disse St. James mais para consigo do que para Ward.
- Claro. São apenas copias aqui do ateliê.
St. James agradeceu ao arquitecto e desligou. Depois sentou-se na beira da cama e olhou para a ponta dos sapatos. Teve a impressão de andar às apalpadelas. Parecia-lhe cada vez mais que o Brouard usara o museu como cobertura. Mas cobertura para quê? E a questão que o preocupava era: fora uma cobertura desde o princípio? E se tivesse sido esse o caso, teria alguma das principais pessoas envolvidas - talvez alguém que dependesse da sua criação e que tivesse investido nela de várias maneiras - descoberto este facto e ter atacado o senhor Brouard num acto de vingança por ter sido usado?
St. James levou os dedos à testa e exigiu que o seu cérebro resolvesse aquilo tudo. Mas parecia-lhe que, como acontecia com toda a gente ligada com a vítima, Guy Brouard tinha-se-lhe adiantado. Era uma sensação que o punha louco.
Colocara o papel dobrado que lhe tinham entregue na recepção sobre o toucador e avistou-o quando se levantou da cama. Viu que se tratava de uma mensagem de Deborah e fora escrita com uma furiosa precipitação.
O Cherokeefoi preso! Rascunhara. Por favor, vem assim que receberes isto. A expressão "por favor" fora sublinhada duas vezes e ela acrescentara apressadamente um mapa dos apartamentos Queen Margaret em Clifton Street. St. James dirigiu-se imediatamente para lá.
Os nós dos seus dedos mal tinham tido tempo de tocar na porta do apartamento quando Deborah atendeu.
- Graças a Deus - disse. - Ainda bem que vieste. Entra, amor. Por fim vais conhecer a China.
China River estava sentada com as pernas cruzadas sobre o sofá e um cobertor rodeava-lhe os ombros como se fosse um xaile.
- Nunca pensei vir a conhecê-lo - disse a St. James. - Nunca pensei. - Tinha o rosto franzido e levou uma mão à boca.
- Que aconteceu? - perguntou St. James a Deborah.
- Não sabemos - replicou esta. - A polícia não nos disse quando o levou. O advogado da China foi falar com eles assim que lhe telefonámos, mas ainda não nos disse nada. Mas Simon - baixou a voz - julgo que eles têm qualquer coisa... que descobriram qualquer coisa. Que mais poderia ser?
- As impressões digitais dele no anel?
- O Cherokee não sabia nada do anel. Nunca o tinha visto. Ficou tão surpreendido como eu quando o levámos à loja de antigüidades e nos disseram...
- Deborah. - China interrompeu-a do sofá. Depois voltou-se para ela com um ar terrivelmente hesitante. E depois terrivelmente arrependido. - Eu... - Pareceu procurar dentro de si coragem para continuar. Deborah, eu mostrei aquele anel ao Cherokee, assim que o comprei.
- Tens a certeza de que ele não... - disse St. James à mulher.
- A Debs não sabia. Eu não lhe disse nada. Porque quando ela me mostrou o anel... aqui no apartamento... o Cherokee não disse uma palavra. Não agiu como se o tivesse reconhecido. Nunca poderia imaginar... sabes, porque ele não disse... - mordeu nervosamente uma unha... - e eu nunca pensei...
- Levaram também todos os seus haveres - disse Deborah a St. James. - Tinha um saco de viagem e uma mochila. Andavam especialmente à procura deles. Eram dois... isto é, dois guardas e disseram: "É isto? Não trouxe mais nada consigo?" Depois levaram-no, voltaram e revistaram os armários. Debaixo dos móveis também. E o lixo.
St. James acenou afirmativamente.
- vou falar pessoalmente com o inspector Lê Gallez - disse a China.
- Alguém planeou tudo isto desde o princípio. Encontraram dois americanos, que nunca tivessem saído do país que provavelmente nunca tivessem tido dinheiro suficiente para sequer terem saído da Califórnia a menos que fosse à boleia. Ofereceram-lhes a oportunidade da sua vida. Parecia tão bom, tão bom para ser verdade que eles aceitariam imediatamente essa oportunidade; depois apanharam-nos. - A sua voz estremeceu. - Fomos tramados. Primeiro eu. Agora ele. Vão dizer que planeámos tudo isto juntos antes de sairmos de casa. E como poderemos provar que não o fizemos? Que nem sequer conhecíamos estas pessoas? Nenhuma delas. Como poderemos prová-lo?
St. James não se mostrou muito satisfeito por ter de dizer aquilo que tinha de ser dito à amiga de Deborah. De facto, para ela, havia um bizarro consolo em pensar que ela e o irmão estavam os dois metidos em trabalhos. Mas a verdade de tudo aquilo baseava-se no que duas testemunhas tinham visto na manhã do assassínio e nas marcas deixadas no local do crime. A verdade adicional estava em quem tinha sido agora preso e porquê.
- Lamento dizer-lhe que é muito claro que há apenas um assassino, China. Foi vista uma pessoa a seguir Brouard até à praia e havia apenas um conjunto de pegadas ao pé do cadáver.
A luz da sala era fraca, mas ele viu China engolir em seco.
- Então não importava qual de nós fosse acusado. Ele ou eu. Mas precisavam aqui de nós dois para poderem dobrar a possibilidade de um de nós ser acusado. Foi tudo planeado e arranjado desde o princípio. Está a ver, não é verdade?
St. James ficou em silêncio. Percebia que alguém pensara em tudo. Percebia que o crime não fora obra de um único momento. Mas também percebia que, tanto quanto sabia até àquele momento, apenas quatro pessoas possuíam a informação de que dois americanos - dois potenciais bodes expiatórios de um assassínio - estavam a caminho de Guernsey para fazer uma entrega a Guy Brouard: o próprio Brouard, o advogado que ele contratara na Califórnia e os irmãos River. com Brouard morto e o advogado localizado restavam os River para planear o crime. Um dos River.
- A dificuldade é que parece que ninguém sabia que vinham disse ele em tom cauteloso.
- Alguém deve ter sabido. Porque a festa foi marcada... a festa para
o museu...
- Sim. Estou a ver. Mas parece que o Brouard fez com que várias pessoas acreditassem que a planta que iria escolher seria a de Bertrand Debiere. O que nos diz que a vossa chegada... a vossa presença em Lê Reposoir... foi uma surpresa bastante grande para todos, excepto para o próprio Brouard.
- Ele deve ter dito a alguém. Toda a gente confia em alguém. Frank Ouseley? Eram bons amigos. Ou na Ruth. Não o teria dito à própria irmã?
- Não me parece. E mesmo que o tivesse feito, ela não tinha razões para...
- Ao passo que nós tínhamos! - China ergueu a voz. - Ora vamos. Ele disse a alguém que íamos chegar. Se não foi ao Frank ou à Ruth... alguém sabia. Estou a dizer-lhe. Alguém sabia.
- Pode ter dito à senhora Abbott, a Anais - disse Deborah a St. James. - A mulher com quem tinha um caso.
- E ela pode tê-lo espalhado por aí - disse China. - Qualquer pessoa poderia ter sabido assim.
St. James teve de admitir que seria possível. Teve de admitir que seria mesmo muito provável. O problema era, claro, mesmo admitindo que Brouard tivesse contado a alguém a chegada iminente dos Rivers, mantinha-se mesmo assim, aquele estranho mistério. A natureza apócrifa das plantas arquitectónicas. Brouard tinha-as apresentado como um artigo genuíno, como o futuro museu da guerra, quando sempre soubera que não o era. Por isso se tivesse dito a alguém que os River iam trazer as plantas da Califórnia, também teria dito que elas eram falsas?
- Precisamos de falar com a Anais, meu amor - insistiu Deborah. E também com o filho. Ele estava... ele estava realmente muito estranho, Simon.
- Está a ver? - disse China. - Há outras pessoas e uma delas sabia que nós vínhamos. Uma delas planeou as coisas a partir daí. E temos de descobrir essa pessoa, Simon, porque não é a polícia que o vai fazer.
Quando saíram começava a cair uma chuva miudinha e Deborah deu o braço a Simon, encostando-se a ele. Agradava-lhe pensar que ele interpretaria o seu gesto como o de uma mulher que procurava abrigo junto do seu homem, mas sabia que ele não era pessoa para se sentir lisonjeado. Pensaria que Deborah o fazia para evitar que ele escorregasse nas pedras húmidas e dependendo da sua disposição ele animá-la-ia ou não.
Mesmo assim preferiu fazer-lhe a vontade. Ele ignorou-lhe os motivos e disse:
- O facto de ele não te ter dito nada sobre o anel... Nem sequer que a irmã o tinha comprado ou te ter dito que já o tinha visto, ou que tinha visto uma coisa parecida... Não me parece muito bom, meu amor.
- Não quero tirar conclusões sobre o que isso significa - admitiu Deborah. - Principalmente se as impressões digitais da China são claras.
- Hum. Era o que eu pensava sobretudo para o fim. Apesar do teu comentário sobre a senhora Abbott, parecias... - Deborah sentiu o olhar do marido sobre ela. - Acho que parecias... afectada.
- Ele é irmão dela - disse Deborah. - Não posso pensar que o seu próprio irmão... - Desejou pôr de lado a idéia, mas não conseguiu. Esta instalara-se desde o momento em que o marido afirmara que ninguém soubera que os irmãos River viriam para Guernsey. A partir desse momento, não fora capaz de pensar noutra coisa senão nas inúmeras ocasiões do passado em que Cherokee River agira sempre um pouco à margem da lei. Sempre fora o homem dos esquemas e os esquemas tinham sempre incluído uma fácil aquisição de dinheiro. Quando Deborah vivera com China em Santa Barbara ouvira contar as aventuras de Cherokee: quando era adolescente tinha já um plano para alugar a cama à hora a outros adolescentes; chegara até a ter uma plantação de marijuana quando tinha pouco mais de vinte anos. Deborah sabia que Cherokee sempre fora um oportunista. A questão era saber que gênero de oportunidade teria visto e aproveitado com a morte de Guy Brouard.
- Horroriza-me pensar o que isto significa para China - disse Deborah. - E sobre aquilo que ele tencionava que lhe acontecesse... isto é que ela deveria ser... Logo ela... É horrível, Simon. O seu próprio irmão. Como é que ele poderia... Isto é, se foi realmente ele que o fez, porque, pode de facto haver outra explicação. Não quero acreditar nesta.
- Podemos procurar outra - disse Simon. - Podemos falar com os Abbotts. E também com todos os outros. Mas, Deborah...
Ela olhou-o e leu no seu rosto uma expressão preocupada.
- Precisas de te preocupar para o pior - disse.
- O pior seria a China ir a tribunal - respondeu Deborah. - O pior seria a China ir para a prisão. Ficar com a culpa... com a culpa de outra pessoa. - As palavras dela morreram-lhe nos lábios ao aperceber-se de como o marido tinha razão. Sem qualquer aviso, sem tempo para se habituar, sentiu-se entre duas alternativas: uma má e outra pior. A sua lealdade ia, em primeiro lugar, para com a sua velha amiga. Por isso sabia que deveria sentir alguma satisfação pelo facto de ela se ter visto livre de uma falsa prisão e de uma perseguição injusta. Mas, se a salvação de China era feita a custo da dor de saber que tinha sido o seu próprio irmão a montar todas as peças dos acontecimentos que haviam conduzido à sua prisão... como poderia alguém festejar a liberdade de China com aquele tipo de informação? E como poderia China aceitar uma traição assim?
- E tu? - perguntou Simon.
- Eu? - Deborah deteve-se. Tinham chegado à esquina de Berthelot Street que descia numa ladeira íngreme até à High Street e ao cais. O caminho estreito estava escorregadio e a chuva que serpenteava em direcção à baía começara a formar ribeirinhos que prometiam engrossar nas horas seguintes. Não era um sítio seguro para um homem com dificuldades de locomoção, no entanto Simon dispôs-se a continuar enquanto Deborah pensava na pergunta do marido.
A meio da ladeira, Deborah viu as janelas da estalagem Admirai de Saumarez que brilhavam alegremente na penumbra, prometendo abrigo e conforto. Porém ela sabia que aquelas promessas eram ilusórias mesmo em tempos melhores e não seriam mais permanentes do que a chuva que caía sobre a cidade. Mesmo assim, o marido dirigiu-se para lá. Ela não lhe respondeu enquanto não estavam bem abrigados na porta da estalagem.
- Não reflecti sobre isso, Simon. E não sei exactamente o que queres dizer.
- Exactamente o que acabei de dizer. Se consegues acreditar. Serias capaz de acreditar? Quando chegarmos a esse ponto... se chegarmos a esse ponto... estarás disposta a acreditar que Cherokee River incriminou a irmã? Porque aquele testamento significa provavelmente que ele tenha ido expressamente buscar-te a Londres. Ou a mim. Ou talvez a ambos. Mas ele não foi lá só para ir à embaixada.
- Porquê?
- Estás a querer dizer: porque é que ele nos foi buscar? Para que a irmã acreditasse que ele a estava a ajudar. Para ter a certeza de que ela não se poria a pensar em elementos que a teriam levado a suspeitar ou, pior ainda, a chamar para ele as atenções da polícia. Diria mesmo que para ele foi a maneira de aliviar a consciência ao mesmo tempo que conseguia ter aqui alguém para apoiar a China. Mas se ele tenciona que ela fique com a responsabilidade do crime, não creio que tenha consciência.
- Não gostas dele, pois não? - perguntou Deborah.
- Não se trata de gostar ou não gostar. Trata-se de observar os factos, de os ver como são e de os descrever.
Deborah percebeu que ele tinha razão. Compreendeu que a análise desapaixonada que Simon fazia de Cherokee provinha de duas fontes: do seu conhecimento de uma ciência que freqüentemente era posta ao serviço de investigações criminais e do facto de conhecer mal o irmão de China. Resumindo, Simon nada tinha a ganhar com a inocência ou culpabilidade de Cherokee. Mas não era esse o caso dela.
- Não - disse. - Não posso acreditar que ele tenha feito uma coisa destas. Não posso acreditar.
Simon acenou afirmativamente. Deborah pensou que ele tinha uma expressão demasiado sombria, mas disse para consigo que poderia ser da falta de luz.
- Sim - disse ele. - É com isso que eu estou preocupado. - E entrou na estalagem à frente dela.
Sabe o que isto significa, não sabe, Frank? Sabe exactamente o que isto significa.
Frank já não se recordava se Guy Brouard dissera exactamente aquelas palavras, ou se ele apenas as lera na expressão do seu rosto. Em qualquer dos casos sabia que tinham existido entre eles. Eram tão reais como o nome G. H. Ouseley e a morada Moulin dês Niaux que uma arrogante mão ariana tinha escrito no alto da lista de alimentos: salsichas, farinha, ovos, batatas e feijão. E tabaco, para que o Judas que havia entre eles nunca mais tivesse de fumar as folhas apanhadas nos arbustos à beira das estradas, enroladas em papel.
Sem ter de perguntar, Frank sabia exactamente o preço que fora pago por aqueles alimentos. Sabia porque três dos audaciosos homens que tinham impresso o G. I. F. T. à luz fraca e perigosa das velas da sacristia de St. Pierre du Bois tinham sido mandados para campos de trabalho pelos seus esforços, enquanto um quarto havia sido simplesmente embarcado para uma prisão em França. Os três tinham morrido lá ou por causa desses campos de trabalho. O quarto estivera preso apenas durante um ano. As poucas vezes que falara desse ano, descrevera o tempo passado na prisão francesa como cruel, insalubre e sempre desumano, mas Frank apercebia-se de que era assim que teria de o fazer. Provavelmente até se lembraria dele desse modo pois a lembrança é lógica e necessária para a sua própria protecção, uma vez traídos os seus camaradas... como uma maneira de se proteger no seu regresso como espião que tanto devia aos nazis... como recompensa por um acto cometido porque estava com fome, por amor de Deus, e não porque acreditasse em especial nisto ou naquilo... como poderia um homem enfrentar o facto de ter provocado a morte dos seus camaradas para encher a barriga de comida decente?
com o tempo o mito de que Graham Ouseley fora um dos traídos tinha-se transformado em realidade. Não se poderia dar ao luxo de não ter sido assim e se lhe recordassem que tinha sido ele o traidor - com as mortes de três homens bons a pesarem-lhe na consciência - a sua mente já perturbada transformar-se-ia numa enorme confusão. No entanto, aquilo ser-lhe-ia recordado se a imprensa começasse a desfolhar os documentos, que certamente pediriam, como prova dos nomes que ele iria apresentar.
Frank nem queria imaginar como seriam as coisas quando a história viesse a lume. A imprensa apresentaria a história durante vários dias e a televisão e a rádio da ilha também a aproveitariam. Aos gritos de protesto dos descendentes dos colaboradores - bem como dos colaboradores que, como Graham, ainda estivessem vivos - a imprensa forneceria as devidas provas. A história nunca seria apresentada sem as provas terem sido dadas a conhecer, por isso, entre esses traidores nomeados pelo jornal, surgiria sem dúvida o nome de Graham Ouseley. E que deliciosa ironia para os vários média que um homem decidido a acusar os canalhas culpados das prisões, deportações e mortes fosse também ele, um vilão da pior espécie, um leproso que teria de ser afastado da sociedade.
Guy perguntara a Frank o que tencionara fazer agora que conhecia a perfídia do pai, e Frank não soubera responder. Tal como Graham Ouseley não era capaz de enfrentar a verdade das suas acções durante a ocupação, Frank não conseguia enfrentar a responsabilidade de repor a realidade. Amaldiçoava o dia em que conhecera Guy Brouard na conferência e lamentava amargamente o momento em que vira no outro um interesse semelhante ao seu, a respeito da guerra. Se não tivesse visto nada, se não tivesse agido impulsivamente, tudo seria diferente. Aquela lista, há muito guardada entre outras que tinham servido para os nazis identificarem aqueles que os tinham ajudado ou colaborado, teria continuado enterrada entre uma vasta acumulação de documentos que faziam parte de uma colecção reunida, mas não separada, classificada ou de qualquer forma identificada.
A aparição de Guy Brouard nas suas vidas tinha mudado tudo aquilo. A sugestão entusiástica de Guy para que se tratasse de arranjar um lugar onde tudo aquilo se pudesse guardar - juntamente com o seu amor pela ilha que se transformara no seu lar - tinham ajudado a produzir um monstro. Esse monstro era o conhecimento e o conhecimento exigia reconhecimento e acção. Era aquele o atoleiro de onde Frank tentava em vão sair.
Tinha o tempo contado. com a morte de Guy, Frank pensara que tinham comprado o silêncio. Mas afinal não fora assim. Graham mostrava-se decidido a percorrer o caminho da sua própria destruição. Embora conseguisse esconder-se durante mais de cinqüenta anos, o seu refúgio desaparecera e, agora, não poderia asilar-se em parte alguma. Frank sentiu as pernas pesarem-lhe como chumbo quando se aproximou da cômoda para pegar na lista. Desceu as escadas segurando a lista com ambas as mãos como se fosse a oferenda de um sacrifício. Na sala, a televisão mostrava dois cirurgiões a operar um paciente. Frank desligou-a e voltou-se para o pai que ainda estava a dormir com a boca aberta e um fio de saliva a escorrer-lhe para a cavidade do lábio inferior.
Frank curvou-se e pôs a mão no ombro de Graham.
- Pai, acorde - disse. - Temos de conversar. - Abanou-o suavemente.
Os olhos de Graham abriram-se por trás dos óculos de lentes grossas. Pestanejou confuso e disse.
- Devo ter passado pelas brasas, Frankie. Que horas são?
- Já é tarde - respondeu Frank. - São horas de ir para a cama para dormir como deve ser.
- Está bem, filho - disse Graham, esboçando um gesto para se levantar.
- Mas ainda não - disse Frank. - Veja isto primeiro, pai. - E ergueu a lista dos alimentos diante dos olhos fracos do pai.
Graham franziu as sobrancelhas, enquanto passava os olhos pelo papel.
- Afinal, o que é isto? - perguntou.
- Diga-me o pai. Está aqui o seu nome, vê? Aqui mesmo. E tambem uma data. Dezoito de Agosto de mil novecentos e quarenta e três.
Está quase tudo escrito em alemão. Que me diz disto, pai?
* O pai abanou a cabeça.
- Nada. Não sei do que se trata. - A afirmação parecia genuína e sem dúvida ele estava convencido do assunto.
- Sabe o que diz? O que está escrito em alemão? Sabe traduzir?
- Não falo a língua dos boches, pois não? Nunca falei nem hei-de falar. - Graham voltou-se na cadeira, avançou e apoiou as mãos nos braços.
- Espere aí, pai - disse Frank para o deter. - Deixe que lhe leia isto.
- Disseste que eram horas de eu ir para a cama - disse Graham em voz cautelosa.
- Primeiro vamos ver isto. Seis salsichas; uma dúzia de ovos; dois quilos de farinha; um quilo de feijão. E tabaco, pai. Tabaco verdadeiro. Duzentos gramas. Os alemães deram-lhe isto.
- Os boches? - disse Graham. - Que absurdo. Onde arranjaste... Deixa-me ver. - Fez um débil gesto para apanhar o papel.
Frank retirou-o do alcance do pai e disse:
- Sabe o que aconteceu, pai? O pai estava farto de tanto esforço para se manter vivo, acho eu. As rações ínfimas e, depois, nem havia rações. Chá de silvas. Bolos de casca de batata. O pai tinha fome e estava cansado e doente por ter de comer raízes e ervas. Por isso entregou-lhes os nomes...
- Eu nunca...
- Entregou-lhes os nomes que eles queriam porque o pai queria tabaco decente. E carne, pai, só Deus sabe como o pai queria comer carne. Foi o que aconteceu. Três vidas em troca de seis salsichas. Um bom negócio para quem já se vira obrigado a comer o gato.
- Isso não é verdade! - protestou Graham. - Será que enlouqueceste?
- Este nome é o seu, não é? Esta é a assinatura do Feldkommandant no fim da página. Heine. Está aqui. Veja, pai. Ele aprovou o seu tratamento especial. Dava-lhe um pouco de sustento de vez em quando, para que se agüentasse até ao final da guerra. Se eu procurar por entre o resto dos documentos, quantos mais vou encontrar iguais a estes?
- Não sei do que me estás a falar.
- Não. Não sabe. Tratou de esquecer. Que mais poderia fazer quando tantos morreram? Não esperava isto, pois não? Pensou que cumprissem o tempo de prisão e depois voltassem para casa, não é verdade? Isso acredito.
- Estás louco, rapaz. Deixa-me sair desta cadeira. Chega-te para trás, ou vou zangar-me contigo.
Aquela ameaça paternal, que tão poucas vezes escutara quando era criança e já quase esquecera, teve o seu efeito sobre Frank. Recuou e ficou a ver o pai tentar erguer-se da cadeira.
- Olha, vou para a cama - disse Graham ao filho. - Isto não faz sentido. Tenho coisas para fazer amanhã e quero descansar antes de as fazer. E escuta, Frank! - Apontou com o dedo para o peito do filho. – Não penses em meter-te no meu caminho, estás a ouvir? Tenho coisas para contar e tenciono contá-las.
- Pai, não ouviu o que lhe disse? - perguntou Frank angustiado. O pai era um deles. O pai denunciou os seus camaradas. O pai falou com os nazis. Negociou com eles. E passou os últimos sessenta anos a pegá-lo.
- Eu nunca... - Graham avançou em direcção ao filho com os punhos fechados. - Eles morreram, meu sacana. Eram homens bons... melhores do que tu alguma vez serás e encontraram a morte porque não se submeteram. Pois, disseram-lhes que o fizessem, podes ter a certeza. Que cooperassem, que tivessem coragem, que fossem bons soldados. O rei abandonou-vos, mas preocupa-se e, um dia, quando tudo isto terminar, ele há-de tirar-vos o chapéu. Entretanto deveis fazer o que os boches vos mandarem.
- É isso que diz a si próprio? Que estava a agir como um fulano que fingia cooperar. Entregando os amigos, assistindo às suas prisões, percorrendo a charada da sua própria deportação quando sabia que tudo não passava de uma mentira? Afinal para onde o mandaram, pai? Onde o esconderam até ter cumprido a sentença? Ninguém reparou que, quando o pai regressou, parecia ter um aspecto bom de mais para um llhomem que passara um ano na cadeia durante a guerra? - Eu estava tuberculoso. Tinha de me curar. - Quem a diagnosticou? Não foi um médico de Guernsey, suponho eu. E se agora pedíssemos novos exames... o tipo de exames que lhe "detectaram a tuberculose... qual seria o resultado? Positivo? Duvido. i, - Que disparate - gritou Graham. - Disparate! Disparate! Disparate!" Dá-me esse papel. Estás a ouvir, Frank? Dá-mo já. - Não dou - disse Frank. - E o pai não vai falar à imprensa. Porque se falar, pai, se falar... - Sentiu por fim todo o horror descer sobre ele: a vida que era uma mentira e o papel que ele tinha representado, involuntariamente mas, mesmo assim, com entusiasmo, na elaboração daquela mentira. Durante cinqüenta e três anos idolatrara a coragem do pai para vir a descobrir que, afinal, se ajoelhara apenas diante de um bezerro de ouro. O desgosto que sentia ao sabê-lo era insuportável. A raiva que acompanhava esse desgosto era suficiente para lhe inundar o espírito. - Eu era uma criança... um rapazinho - disse em tom entrecortado. - Acreditei... - E a voz sucumbiu ao dizer aquilo. Graham puxou as calças.
- Que se passa? Que lágrimas são essas? É só isso que tens dentro de ti? Nessa altura é que tínhamos razões para chorar, isso sim. Cinco anos de inferno na terra, Frankie, cinco anos, filho. Ouviste-nos chorar? Viste-nos a torcer as mãos sem saber o que fazer? Viste-nos à espera, com paciência de santos, aguardando que alguém retirasse os boches desta ilha? Resistimos, sabes. Pintámos os V, escondemos os receptores de rádio. Cortámos os cabos telefônicos, retirámos as placas das ruas, escondemos trabalhadores escravos fugitivos. Dávamos asilo aos espiões britânicos que desembarcavam e poderíamos ter sido fuzilados por isso. Mas chorar como bebês? Alguma vez chorámos? Alguma vez? Agüentámos como homens, porque éramos homens. - Dirigiu-se às escadas.
Frank olhou-o espantado. Apercebeu-se de que a versão de Graham estava tão profundamente arreigada no seu espírito que não iria ser fácil extirpá-la. A prova que Frank tinha nas mãos não existia para o pai. De facto não podia permitir-se a deixá-la existir. Admitir que tinha traído homens bons seria o equivalente a admitir que era um homicida. E ele não o faria. Nunca o faria. Como poderia Frank ter acreditado que ele alguma vez o faria?
O pai agarrou-se ao corrimão das escadas. Frank quase avançou para o ajudar como sempre, mas descobriu que não era capaz de tocar no velho como era seu costume. Teria de colocar a mão direita no braço de Graham e de passar o braço esquerdo pela cintura, mas não poderia suportar o contacto com ele. Por isso, manteve-se imóvel a vê-lo subir os sete degraus com dificuldade.
- Eles vão cá vir - disse Graham, desta vez mais para si do que para o filho. - Telefonei-lhes, sabes? Já é tempo que a verdade seja dita e tenciono dizê-la. Que os nomes apareçam. Têm de pagar por isso.
A voz de Frank parecia a de uma criança impotente.
- Mas o pai não pode...
- Não me digas o que posso e o que não posso fazer - vociferou o pai das escadas. - Não te atrevas a dizer ao teu pai o que tem de fazer. Podes ter a certeza de que sofremos. Alguns morreram. E há quem tenha de pagar por isso, Frank. Ponto final. Estás a ouvir. Ponto final.
Voltou-se e agarrou-se com mais firmeza ao corrimão. Vacilou quando ergueu um pé para subir outro degrau. Começou a tossir.
Frank saiu então da sua imobilidade, porque afinal a resposta era simples. O pai dizia apenas a verdade que conhecia. Mas a verdade que o pai e filho partilhavam era a verdade que dizia que alguém teria de pagar.
Chegou às escadas e subiu-as a correr. Parou junto de Graham.
- Oh pai, pai! - disse enquanto agarrava o pai pelo cós das calças e o abanava com força. Afastou-se quando Graham caiu para a frente.
A pancada no degrau de cima foi violenta. Graham deu um grito sobressaltado quando caiu. Mas depois ficou completamente silencioso quando o seu corpo deslizou pelas escadas abaixo.
Capítulo 21
NA MANHÃ SEGUINTE, ST. JAMES E DEBORAH TOMARAM O PEQUENO-almoço junto a uma janela que dava para o pequeno jardim do hotel, onde tufos indisciplinados de amores-perfeitos formavam um rebordo colorido em redor do relvado. Estavam a fazer os seus planos para aquele dia quando China veio ter com eles, toda vestida de negro e mais espectral que nunca.
Lançou-lhes um sorriso como que a pedir-lhes desculpa de ter aparecido tão cedo junto deles.
- Precisava de fazer alguma coisa. Não posso ficar simplesmente sentada. Dantes tinha de ser assim, mas agora não e tenho os nervos em franja. Tem de haver alguma coisa... - pareceu notar o modo como falava porque se deteve, mas depois continuou em tom forçado. - Desculpem. Parece-me que já bebi cinqüenta chávenas de café. Não durmo desde as três da manhã.
- Beba um pouco de sumo de laranja - ofereceu St. James. - Já tomou o pequeno-almoço?
- Não consigo comer - respondeu ela. - Mas muito obrigada. Ontem nem agradeci, mas tencionava fazê-lo. Se não estivessem aqui... Muito obrigada.
Puxou uma cadeira da mesa mais próxima para se juntar a St. James e à mulher. Olhou em volta para os outros ocupantes da sala: homens de fato completo com os telemóveis junto aos talheres, pastas ao lado das cadeiras e jornais abertos na frente. A atmosfera era tão silenciosa como a de um clube masculino em Londres.
- Isto parece uma biblioteca - disse.
- Banqueiros - respondeu St. James. - Têm muita coisa em que pensar.
- É abafado - disse Deborah, lançando a China um sorriso afectuoso. China pegou no copo de sumo que St. James lhe servira.
- Não consigo deixar de dizer a mim própria "se ao menos..." Se ao menos eu me tivesse mantido firme e não tivesse vindo à Europa... Se ao menos me tivesse recusado a falar do assunto... Se ao menos tivesse tido trabalho suficiente para nem poder sair do país... ele podia não ter vindo e nada disto teria acontecido.
- Não te serve de nada pensares assim - disse Deborah. - As coisas acontecem porque acontecem, mais nada. Não podemos fazê-las "desacontecerem" - sorriu com o neologismo. - Temos de seguir em frente.
China devolveu-lhe o sorriso.
- Acho que já ouvi isso antes.
- Davas bons conselhos.
- Nessa ocasião não os apreciavas muito.
- Não. Acho que me pareceram, bom... cruéis. É assim que as coisas parecem quando queremos que os nossos amigos se juntem a nós num interminável lamento.
China franziu o nariz.
- Não sejas tão dura contigo própria.
- Então faz o mesmo.
- Combinado.
As duas mulheres olharam afecruosamente uma para a outra. St. James reparou e reconheceu se tratava de uma comunicação feminina que ele não compreendia. Ficou concluída quando Deborah disse a China River, "Tive saudades tuas", e China lhe retribuiu com um riso suave, uma inclinação de cabeça e a frase "Agora já sabes". Neste momento a conversa acabou.
A troca de palavras serviu para recordar a St. James que Deborah tinha existido para além do tempo em que ele a conhecera. Como entrara no seu mundo consciente apenas com sete anos, a sua mulher parecia ter sempre feito parte do mapa do seu universo particular. Embora o facto de ela ter um universo só seu não ser um choque para ele, achava desconcertante ser obrigado a aceitar que ela era rica em experiências em que ele não participara. Poderia ter participado, mas nisso pensaria depois, numa outra manhã quando estivessem menos coisas em jogo.
- Já falou com o advogado? - perguntou. China abanou a cabeça.
- Não estava. Deveria ter ficado na esquadra enquanto interrogassem o Cherokee. Mas como ele não me ligou... - pegou numa torrada como se a fosse comer, mas pô-la de lado. - Pensei que o interrogatório tivesse seguido pela noite dentro. Foi o que aconteceu quando falaram comigo.
- vou então começar por aí - disse-lhe St. James. - E vocês as duas... acho que deveriam fazer uma visita ao Stephen Abbott. No outro dia ele falou contigo, amor - disse para Deborah. - Suponho que esteja disposto a falar outra vez.
Acompanhou as duas mulheres até ao parque de estacionamento. Aí abriram um mapa da ilha sobre o capo do Escort e traçaram o caminho até Lê Grand Havre, uma enorme reentrância na costa norte da ilha que incluía três enseadas e um porto sobre o qual uma rede de carreiros dava acesso a torres militares e fortes em desuso. Fazendo de navegadora China guiou Deborah até La Garenne onde Anais Abbott tinha uma casa. Entretanto St. James visitaria a esquadra da polícia para extrair ao inspector Lê Gallez as informações que tivesse sobre a prisão de Cherokee.
Viu a mulher e a amiga afastarem-se no carro, descendo Hospital Lane e seguindo a estrada em direcção ao porto. Viu a face de Deborah quando o carro descreveu a curva em direcção a St. Julian's Avenu. Sorria de qualquer coisa que a amiga lhe tinha dito.
Deixou-se ficar ali uns instantes a pensar nas inúmeras maneiras em que poderia ter acautelado a mulher se ela lhe quisesse dar ouvidos. Não é o que eu penso, ter-lhe-ia dito para se explicar. É tudo aquilo que ainda não sei.
Esperava que Lê Gallez lhe preenchesse essas lacunas. Por isso St. James foi à procura dele
O inspector acabara de chegar à esquadra. Ainda não tinha despido o sobretudo quando veio buscar St. James. Atirou o casaco para uma cadeira e levou-o até ao quadro da sala de investigações onde um agente à paisana colocava várias fotografias a cores.
- Veja - disse Lê Gallez apontando com a cabeça. Parecia muito satisfeito consigo mesmo.
St. James viu que as fotografias eram de um frasco de tamanho médio, parecido com os de xarope para a tosse. Estava sobre aquilo que parecia ser relva seca e ervas daninhas entre dois montículos de terra. Uma das fotografias mostrava as suas dimensões comparadas com um régua de plástico, as outras a sua localização no que dizia respeito à flora viva mais próxima, ao campo onde fora encontrado, à sebe que prótegia esse campo da estrada, à estrada ladeada de árvores que St. James reconheceu porque já a tinha percorrido.
- A estrada que leva à baía - disse.
- Exactamente - concordou Lê Gallez.
- E do que se trata?
- O frasco? - O inspector dirigiu-se à secretária e pegou numa folha de papel. - Eschscholzia californica.
- O que é isso?
- Óleo de papoila.
- Então já tem o seu opiáceo.
- É verdade. - Lê Gallez sorriu.
- E californica significa...
- Aquilo que se esperaria. As impressões digitais dele estão no frasco. Enormes. Nítidas e belas. Um alívio para os meus olhos cansados de trabalhar.
- Raios! - murmurou St. James mais para consigo do que para o inspector.
- Temos o nosso homem. - Lê Gallez parecia perfeitamente confiante daqueles factos como se o mesmo não tivesse já acontecido quando tinha acusado China vinte e quatro horas antes.
- Como é que conseguiu?
Lê Gallez utilizou um lápis para apontar para as fotografias enquanto falava.
- Quer dizer como é que o produto foi parar dentro do termo? Acho que foi assim: ele não teria posto lá o opiáceo na noite anterior nem sequer logo de manhã cedo. Havia sempre a possibilidade de Brouard lavar o termo antes de o encher de chá. Por isso seguiu-o até à baía. Meteu o óleo no termo enquanto Brouard nadava, sem dar atenção ao que se estava a passar na praia. O River não teve qualquer problema em esperar que ele já estivesse longe. Depois despejou-o no termo... seguira o Brouard, por isso sabia onde ele o tinha deixado... e despejou o óleo lá dentro. A seguir escondeu-se sei lá onde: por entre as árvores, atrás de uma rocha, perto do quiosque. Esperou que o Brouard saísse da água e bebesse o chá como acontecia todas as manhãs, coisa que toda a gente sabia. Ginkgo e chá verde. É oprimo para fazer crescer os pêlos do peito e incendiar os tomates, que é o que o Brouard desejava para manter feliz a namorada. O River esperou que o opiáceo fizesse efeito. Quando isso aconteceu, atirou-se a ele!
- E se não fizesse efeito na praia?
- Que importância teria? - O encolher de ombros de Lê Gallez foi mais do que eloqüente. - O Sol ainda nem tinha nascido e o opiáceo faria efeito algures no caminho para casa do Brouard. Poderia apanhá-lo em qualquer sítio. Como aconteceu na praia, enfiou-lhe a pedra na garganta e pronto. Calculou que a causa da morte seria atribuída a sufocação por um objecto estranho, como realmente foi. Viu-se livre do óleo de papoila atirando-o para os arbustos e foi a correr para casa. Não se apercebeu de que seriam feitos exames toxicológicos ao corpo, qualquer que fosse a causa aparente da morte.
Fazia sentido. Os criminosos cometiam sempre alguns erros e era assim que acabavam por ser apanhados. com as impressões de Cherokee River no frasco que contivera um opiáceo, fazia sentido que Lê Gallez voltasse para ele as suas suspeitas. Mas todos os outros pormenores do caso se mantinham por explicar. St. James escolheu um deles.
- Como justifica o anel? Também tem as impressões digitais dele? Lê Gallez abanou a cabeça.
- Não conseguimos nem uma decente. A parcial de uma parcial, mas mais nada.
- E então?
- Deve tê-lo levado com ele. Devia estar a pensar enfiá-lo na garganta do Brouard em vez de se servir da pedra. A pedra confundiu-nos um pouco, o que lhe convinha, pois não deveria querer que se suspeitasse imediatamente da irmã. E não devia querer entregar-nos a solução de bandeja. Desejaria certamente dar-nos trabalho para que chegássemos a essa conclusão.
St. James reflectiu sobre tudo aquilo. Parecia-lhe razoável - apesar da lealdade da mulher para com os irmãos River -, mas havia mais uma coisa de que Lê Gallez não falava na sua pressa de fechar o caso sem acusar nenhum dos habitantes da ilha.
- Já viu que aquilo que se aplica a Cherokee River se aplica também a todos os outros? - perguntou. - E há outros com motivos para quererem matar o Brouard. - Não esperou que Lê Gallez argumentasse e prosseguiu apressadamente. - Henry Moullin tem uma roda de fadas entre as suas chaves e o sonho de vir a ser artista do vidro... por sugestão de Brouard... coisa que afinal ficou em nada. Bertrand Debiere parece ter contraído dívidas por ter concluído que receberia a encomenda do projecto do museu de Brouard. E quanto ao próprio museu...
Lê Gallez interrompeu-o com um gesto da mão.
- O Moullin e o Brouard eram muito amigos. De há vários anos. Trabalharam juntos para transformarem o velho Thibeault Manor em Lê Reposoir. Não duvido que o Henry lhe tenha dado a pedra em sinal de amizade. Seria uma maneira de lhe dizer: "Agora és um de nós." Quanto ao Debiere, não estou a ver o Nobby matar o homem, quando queria que ele mudasse de opinião.
- Nobby?
- Bertrand. - Em abono da verdade, Lê Gallez ficou um pouco embaraçado. - É uma alcunha. Andámos juntos na escola.
O que fazia com que Debiere fosse um candidato ainda menos plausível para o assassínio aos olhos do inspector do que qualquer outro habitante de Guernsey. St. James continuou à procura de uma maneira de abrir os olhos a Lê Gallez.
- Mas porquê? Que motivos teria Cherokee River? Que motivo poderia ter a irmã dele quando foi a sua principal suspeita?
- A viagem do Brouard à Califórnia. Há vários meses. Foi então que o River planeou tudo.
- Porquê?
Lê Gallez perdeu a paciência.
- Olhe, homem, não sei - disse irritado. - Não preciso de saber. Só preciso de encontrar o assassino do Brouard e já o encontrei. Está bem, acusei primeiro a irmã, mas acusei-a segundo as provas que ele lá pôs. Tal como o estou a acusar a ele com as provas que encontrei.
- Mas também qualquer pessoa as podia lá ter posto.
- Quem? Porquê? - Lê Gallez saltou da secretária e avançou com um ar demasiado agressivo, o que deu a perceber a St. James que poderia ser expulso da esquadra com toda a sem-cerimônia.
- Falta dinheiro nas contas do Brouard, inspector. Muito dinheiro. Também sabia disso? - perguntou calmamente.
A expressão de Lê Gallez alterou-se. St. James aproveitou a vantagem.
- A Ruth Brouard contou-me. Parece que o dinheiro foi desaparecendo aos poucos.
Lê Gallez reflectiu.
- O River poderia... - disse com muito menos convicção. St. James interrompeu-o.
- Se quer pensar que o River estava envolvido nisso... digamos que num esquema de chantagem... porque haveria de matar a galinha enquanto ela continuava a pôr os ovos de ouro? Mas, se fosse esse o caso, se de facto o River chantageava o Brouard, porque teria sido ele aceite entre tanta gente como correio por aquele advogado americano? Kiefer deveria ter dito o nome a Brouard antes de eles terem vindo, senão como os teriam ido buscar ao aeroporto? Quando lhe tivessem dito que o nome era River, Brouard teria posto um fim àquilo.
- Não o soube a tempo - contrapôs Lê Gallez, mas começava a parecer muito menos seguro de si próprio.
St. James insistiu mais.
- Inspector, a Ruth Brouard ignorava que o irmão estava a delapidar a fortuna. Creio mesmo que ninguém sabia. Pelo menos a princípio. Não fará sentido que alguém o possa ter matado para o impedir de gastar tudo o que tinha? Se não for isso, não estaria envolvido nalguma coisa ilegal que possa sugerir um motivo para um assassínio muito mais forte do que qualquer um que qualquer dos River possa ter?
Lê Gallez ficou em silêncio. St. James viu pela expressão do inspector que ele estava atrapalhado por lhe terem apresentado uma informação sobre a vítima do assassínio que ele próprio deveria possuir. Olhou para o quadro onde estavam expostas as fotografias do frasco do opiáceo que declara que o seu assassino fora encontrado. Olhou para St. James e pareceu ponderar no desafio que o outro homem lhe apresentara.
- Certo - disse por fim. - Então venha comigo. Temos uns telefonemas a fazer.
- A quem? - perguntou St. James.
- Às únicas pessoas que fazem falar os banqueiros.
China era uma excelente navegadora. Quando havia placas anunciava o nome das ruas que atravessavam enquanto seguiam para norte, percorrendo o passeio marítimo e conseguiram chegar sem enganos até Vale Road na ponta norte de Belle Greve Bay.
Passaram por um pequeno bairro, onde havia uma mercearia, um cabeleireiro e uma oficina de automóveis e, num semáforo, um dos poucos da ilha, voltaram para noroeste. Em Guemsey a paisagem mudava constantemente de modo que, oitocentos metros a seguir, encontraram-se numa zona rural definida por enormes estufas que cintilavam ao sol da manhã, seguidas por uma extensão de campos. Depois de ter entrado naquela zona, Deborah reconheceu o local e perguntou a si própria por que razão não o teria feito antes. Olhou com ar cansado para a amiga no assento ao lado e viu pela expressão de China que também ela se tinha apercebido do sítio onde se encontravam.
- Estaciona aqui o carro, sim? - disse China repentinamente, quando se encontravam na curva que levava à cadeia.
Assim que Deborah travou e estacionou na berma, China saiu do carro e dirigiu-se a uma sebe de cardos e espinheiros. Do outro lado erguiam-se ao longe os dois edifícios da prisão. com o seu exterior amarelado e telhado de telhas vermelhas, mais parecia uma escola ou um hospital. Apenas as janelas, com barras de ferro, demonstravam o uso do edifício.
Deborah foi ter com China que parecia absorvida nos seus pensamentos e hesitou em interrompê-la. Deixou-se ficar ao lado dela, em silêncio e sentiu a frustração de não poder fazer nada, principalmente quando comparava a terna solidariedade que recebera dela quando precisara.
- Ele não consegue dar conta disto - disse China. - Nem por sombras.
- Não vejo como alguém possa fazê-lo.
Deborah pensou em portas de prisões que se fechavam, em chaves que davam a volta e no largo período de tempo: dias que passavam a semanas e a meses até passarem os anos.
- Será pior para o Cherokee - disse China. - É sempre pior para os homens.
Deborah olhou-a. Recordou-se da descrição de China, anos atrás, da única vez em que visitara o pai na cadeia. "Os olhos dele", dissera. "Não conseguia mantê-los sossegados. Estávamos sentados a uma mesa e quando alguém passava por trás dele, olhava em seu redor como se esperasse ser anavalhado. Ou pior ainda."
Dessa vez estivera preso durante cinco anos. China dissera-lhe que o sistema de prisão californiano estava sempre pronto para receber o pai.
- Ele não sabia o que o esperava lá dentro - disse China.
- Não vai chegar a tanto - garantiu-lhe Deborah. - Vamos resolver as coisas o mais depressa possível para que vocês possam ir para casa.
- Sabes, nunca gostei de ser tão pobre, de ter de juntar dinheiro na esperança de poder comprar alguma coisa mais tarde. Detestava. Trabalhei quando andava na escola secundária para poder comprar um par de sapatos decente. Durante anos servi às mesas para conseguir ir para Brooks. E depois o apartamento em Santa Barbara. Aquela lixeira, Debs, detestava aquilo. Mas preferia ter tudo isso de volta só para sair daqui. Ele põe-me louca a maior parte do tempo. Até tinha medo de atender o telefone porque pensava que poderia ser o Cherokee a dizer: "Chine! Espera até ouvires o meu plano", e já sabia que seria alguma coisa pouco legal ou então haveria de querer que eu o financiasse. Mas agora... neste preciso instante... daria tudo o que tenho para ter o meu irmão ao meu lado, para que estivéssemos os dois no pontão de Santa Barbara com ele a falar-me do seu próximo esquema.
Deborah abraçou impulsivamente a amiga. A princípio, o corpo de China pareceu querer afastar-se, mas Deborah agarrou-a até a sentir ceder.
- Vamos livrá-lo disto. Vamos livrar-vos a ambos disto. Irão ambos para casa.
Regressaram ao carro. Enquanto Deborah fazia marcha atrás e voltava para a estrada principal, China disse:
- Se eu soubesse que eles vinham buscá-lo... Parece que me quero armar em mártir. Não é bem isso que quero dizer. Mas acho que preferia ser eu a cumprir a pena.
- Ninguém vai para a cadeia - disse Deborah. - O Simon vai tratar do assunto.
China abriu o mapa no colo, como que para se assegurar do caminho que seguiam.
- Ele não é nada do que eu... - disse hesitante. - É muito diferente... Nunca pensei... - Deteve-se. - Parece-me muito simpático, Deborah concluiu.
Deborah olhou para ela e completou-lhe o pensamento.
- Mas não se parece nada com o Tommy, não é verdade?
- De modo algum. Pareces... Não sei... menos livre com ele? Menos livre do que quando estavas com o Tommy. Recordo-me do que te divertias com ele. Das aventuras que tinham juntos. Da vossa loucura. Não consigo ver-te a fazer o mesmo com o Simon.
- Não? - Deborah esboçou um sorriso forçado. O que a amiga dizia era verdade. A sua relação com Simon era completamente diferente da que tivera com Tommy, mas a observação de China parecera a Deborah uma crítica feita ao marido e essa crítica punha-a na posição de ter de o defender, coisa de que ela não gostou.
- Talvez seja porque nos estás a ver no meio de uma coisa séria.
- Não creio que seja isso - declarou China. - Tal como disseste, ele é diferente do Tommy. Talvez seja porque é... sabes. A perna dele? Talvez tome a vida mais a sério por causa disso?
- Talvez ele tenha mais razões para o ser. - Deborah sabia que aquilo não era necessariamente verdade: como detective de homicídios, Tommy tinha preocupações profissionais superiores às de Simon. Mas ela procurou um modo de explicar à amiga como era o marido, uma maneira de lhe fazer compreender que amar um homem que vivia quase só para aquilo que tinha dentro da cabeça não era assim tão diferente de amar um homem extrovertido, apaixonado e comprometido com a vida. Tommy podia dar-se ao luxo de ser todas essas coisas, queria Deborah dizer em defesa do marido. Não por ser rico, mas porque era simplesmente quem era. E, por isso, sentia-se seguro de uma maneira que os outros homens não se sentiam.
- Estás a falar na deficiência dele? - perguntou China momentos depois.
- Como?
- Aquilo que faz com que Simon seja mais sério.
- Nunca penso na deficiência dele - disse-lhe Deborah. Manteve o olhar na estrada para que a amiga não lhe pudesse ler no rosto que aquilo era mentira.
- Ah, ainda bem. És feliz com ele?
- Muito.
- Estás cheia de sorte. - China voltou a dar atenção ao mapa. - Segue em frente no cruzamento - disse abruptamente. - Depois corta à direita logo a seguir.
Deborah chegou sem problemas até ao extremo norte da ilha, uma área completamente diferente das freguesias que incluíam Lê Reposoir e St. Peter Port. Os rochedos de granito da ponta sul de Guemsey davam lugar às dunas setentrionais. Uma costa arenosa substituía as descidas íngremes e arborizadas até às baías e, nos sítios onde a vegetação protegia as terras do vento, as gramíneas e a corriola cresciam sobre as dunas móveis, enquanto a festuca e a eufórbia cobriam as dunas fixas.
Passaram pela extremidade sul do Grand Havre, uma enorme baía aberta onde pequenas embarcações se abrigavam dos rigores do Inverno. De um lado da água as humildes casinhas de Lê Picquerel alinhavam-se na estrada que virava para oeste até ao grupo de pequenas baías que definiam a parte inferior de Guemsey. Do outro lado, ficava La Garenne, assim chamada por lá existirem as tocas que haviam abrigado coelhos, o principal petisco da ilha. Da rampa oriental de Lê Grand Havre saía um estreito caminho de pedra.
A casa de Anais Abbott ficava no local em que La Garenne acompanhava a curva da costa. Ficava situada num terreno enorme isolado da estrada pelos mesmos blocos de pedra cinzenta que tinham sido usados na construção do edifício. Tinha na frente um extenso jardim atravessado por um caminho que levava à porta de entrada. Ana'is Abbott encontrava-se aí de braços cruzados. Conversava com um homem careca que segurava uma pasta e parecia ter dificuldades em manter os olhos fixos acima do pescoço dela.
Quando Deborah estacionou do outro lado do caminho de acesso à casa, o homem estendeu a mão a Anais, parecendo ter fechado um negócio com ela. Depois, desceu o carreiro ladeado de flores brancas e alfazema. Anais ficou a vê-lo de cima do degrau e, como o carro dele estava estacionado à frente do de Deborah, deu pelas suas novas visitas assim que estas saíram do Escort.
Pareceu ficar tensa e a sua expressão - que se mostrara suave e simpática na presença do homem - alterou-se; semicerrou os olhos com ar calculista, enquanto Deborah e China subiam o caminho em direcção a ela.
Levou a mão à garganta num gesto protector.
- Quem é a senhora? - perguntou a Deborah. E depois para China. Porque é que saiu da cadeia? O que estão aqui a fazer?
- A China foi libertada - disse Deborah para se apresentar logo de seguida, explicando vagamente a sua presença como "estou a tentar resolver este assunto".
Anais disse:
- Libertada? Que significa isso?
- Significa que a China está inocente, senhora Abbott - disse Deborah. - Não foi ela que matou o senhor Brouard.
Ao ouvir o nome dele, as pálpebras inferiores de Anais ficaram mais avermelhadas.
- Não posso falar consigo. Não sei o que quer. Deixe-me em paz! - Dirigiu-se à porta.
- Anais, espere - disse China. - Precisamos conversar... Ela deu meia volta.
- Não quero conversar consigo. Não quero vê-la. Não fez já que chegue? Ainda não está satisfeita?
- Nós...
IT - Não! Eu vi quando estava com ele. Pensava que não? Pois vi. Vi mesmo. Sei muito bem o que queria.
- Anais, ele só me mostrou a casa. Mostrou-me a propriedade. Ele queria que eu visse...
- Ele queria, ele queria - disse Anais em voz zangada, mas trémula e as lágrimas que lhe marejavam os olhos correram-lhe pela cara abaixo. - Sabia que ele era meu. Sabia, tinha visto, toda a gente lho disse e, mesmo assim, foi em frente. Decidiu seduzi-lo e passou cada minuto...
- Eu estava só a tirar fotografias - disse China. - Vi a possibilidade que tinha de as tirar para vender a uma revista americana. Falei-lhe no assunto e ele gostou da idéia. Não...
- Não se atreva a negá-lo. - A voz de Anais ergueu-se num grito. Ele deixou-me. Disse que não podia, mas eu sei que ele não queria... agora perdi tudo. Tudo.
A reacção dela foi tão extrema que Deborah ficou a pensar se não teriam saído do Escort para outra dimensão e procurou intervir, - Precisamos de falar com o Stephen, senhora Abbott. Ele está?
Anais voltou para a porta,
- Por que razão querem ver o meu filho?
- Ele foi ver a colecção de objectos do tempo da ocupação a casa do Frank Ouseley com o senhor Brouard. Queríamos fazer-lhe umas perguntas sobre isso. - Porquê?
Deborah não ia dizer-lhe mais nada e, muito menos, alguma coisa que a pudesse fazer pensar que o filho pudesse ter responsabilidades na morte de Guy Brouard. Seria a gota de água que faria transbordar o copo e Deborah não desejava tal coisa.
- Precisamos de saber de que é que ele se lembra de lá ter visto respondeu Deborah percorrendo uma estreita linha entre a verdade, a manipulação e a prevaricação. - Porquê?
- Ele está em casa, senhora Abbott?
- O Stephen não fez mal a ninguém. Como se atrevem sequer a - sugerir... - Anais abriu a porta. - Saiam da minha propriedade. Se quiserem falar com alguém, falem com o meu advogado. O Stephen não está. Ele não vai falar convosco nem agora nem nunca.
Entrou e bateu com a porta, mas antes de o fazer o seu olhar traiu-a. Olhou para trás, onde numa encosta, a cerca de quatrocentos metros de distância, se erguia um campanário na direcção em que elas tinham vindo.
Foi por aí que elas seguiram. Recuaram até La Garenne e usaram o campanário como ponto de referência. Pouco depois encontravam-se num cemitério rodeado por um muro que se elevava numa colina, em cujo cimo se encontrava a igreja de St. Michel de Vale cujo campanário tinha um relógio de mostrador azul sem ponteiro dos minutos e com um ponteiro das horas a indicar - permanentemente, segundo parecia - o número seis. Pensando que Stephen Abbott poderia estar lá dentro, experimentaram abrir a porta da igreja.
Porém, lá dentro, tudo era silêncio. As cordas do sino pendiam imóveis perto de uma pia baptismal de mármore e por cima do altar, sobre o qual se encontrava um arranjo decorativo de bagas e azevinho, olhava-as um vitral com um Cristo crucificado. Não havia ninguém na nave nem na Capela dos Arcanjos ao lado do altar principal, onde uma vela acesa indicava a presença do Santíssimo.
Regressaram ao cemitério.
- Provavelmente estava a tentar enganar-nos - disse China. Aposto que ele está em casa.
Nessa altura, Deborah avistou um lago do outro lado do caminho. Estava escondido da estrada pelos canaviais mas, do ponto de observação, situado no cimo da pequena colina, viam que se espraiava perto da casa de telhado vermelho. Uma pessoa lançava paus para dentro de água com um cão indiferente ao lado. Enquanto olhavam, o rapaz empurrou o cão para dentro do lago.
- Stephen Abbott - disse Deborah em tom sinistro. - Não há dúvida de que se está a divertir.
- Um rapaz simpático - foi a resposta de China enquanto voltavam para o carro e atravessavam a rua.
Stephen atirava outro pau para dentro de água quando elas saíram da frondosa sebe que rodeava o lago.
- Vai lá - dizia ele para o cão que se encolhia ali perto olhando para a água com a expressão triste de um dos primeiros mártires cristãos. - Vai lá! - exclamou Stephen Abbott. - Não sabes fazer nada? Lançou outro pau e depois outro como se estivesse decidido a provar a si próprio que era dono de um animal a quem já pouco importavam promessas de recompensas ou castigos.
- Parece-me que ele não quer molhar-se - disse Deborah. - Olá, Stephen! Lembras-te de mim?
* Stephen olhou-a por cima do ombro. Depois os seus olhos passaram para China. Abriu-os muito por uns momentos, antes de ficar com uma expressão fechada e dura.
- Estúpido cão - disse. - É como esta estúpida ilha. Como tudo." Completamente estúpido.
- Ele parece ter frio - disse China. - Está a tremer.
- Pensa que eu vou bater-lhe. E vou, se ele não meter o traseiro dentro de água. Biscuit! - gritou. - Vem cá. Vem já buscar a merda do ramo.
O cão voltou as costas.
- Ainda por cima este monte de merda é surdo - disse Stephen. Mas entende-me bem. Sabe o que eu quero que ele faça e, se tiver juízo, vai fazer o que eu quero. - Olhou à sua volta e encontrou uma pedra, experimentou-lhe o peso para calcular os danos potenciais.
- Ei! - exclamou China. - Deixa o cão em paz.
. Stephen olhou para ela com a boca torcida. Depois lançou a pedra, gritando.
- Biscuit! Meu monte de merda! Sai daí para fora.
A pedra bateu em cheio na cabeça do cão. O animal ladrou, deu um salto e foi esconder-se por entre as canas, onde continuaram a ouvi-lo andar de um lado para o outro, a ganir.
- De qualquer maneira o cão é da minha irmã - disse Stephen com ar de desprezo. Voltou-se para lançar pedras à água, mas antes, Deborah viu que tinha os olhos rasos de lágrimas.
China deu um passo com ar furioso.
- Olha lá, meu estupor. - Mas Deborah ergueu a mão para a deter.
- Stephen... - disse em voz suave, mas ele interrompeu-a antes de poder continuar.
- "Leva o cão daqui", disse-me ela - declarou ele num tom de voz amargo. - "Leva-o a passear, querido." Eu respondi-lhe que mandasse a Jemima. O estúpido do cão afinal é dela. Mas não, ela não pode. A Patinha - está muito ocupada a choramingar no quarto porque não quer sair desta merda de casa, já viram?
- Sair? - perguntou Deborah.
- Vamos sair daqui. O agente imobiliário está sentado na sala tentando afastar as mãos sebosas das tetas da minha mãe. Está a falar de um "negócio que beneficiará ambas as partes", como se aquilo que lhe apetecia não fosse enfiá-la na cama o mais depressa possível. O cão começou a ladrar-lhe e a Patinha está com um ataque de histeria porque o último sítio para onde quer ir viver é com a minha avó em Liverpool, mas eu não me importo, sabem? Faço o que for preciso para sair desta porcaria. Por isso sou eu que tenho de vir passear o cão e não a Patinha, mas o animal só a quer a ela.
- Porque se vão mudar? - Deborah ouvia as vibrações da voz de China e imaginava o que a amiga estava a pensar. Ela própria fazia alguns cálculos acerca das razões que tinham levado a família Abbott àquela situação.
- Parece-me óbvio - replicou Stephen. Depois, antes que pudessem aprofundar o assunto, continuou: - Afinal o que é que querem? - E olhou para os canaviais e arbustos onde Biscuit provavelmente encontrara abrigo pois já ninguém o ouvia.
Deborah falou-lhe de Moulin dês Niaux. Alguma vez lá tinha estado com o senhor Brouard? Tinha lá ido uma vez.
- A minha mãe fez um enorme estardalhaço, mas o facto é que ele só me convidou a lá ir porque ela insistiu. - Soltou uma gargalhada. Queria que nos entendêssemos. Vaca estúpida. Como se ele alguma vez pensasse... era completamente estúpido. Eu, o Guy, o Frank, o pai do Frank que tem quase dois milhões de anos e todo aquele ferro-velho. Montes e montes. Em caixas. Em sacos. Em armários. Em baldes por todo o lado. Uma perda de tempo.
- O que fizeste lá?
- O que fiz? Eles estavam a examinar chapéus. Chapéus, bonés, capacetes e sei lá que mais. Quem os usava e quando, porquê e como. Foi tão estúpido... uma perda de tempo mesmo estúpida. Resolvi ir dar uma volta pelo vale.
- Então não examinaste os objectos de guerra? - perguntou China. Stephen pareceu aperceber-se de qualquer coisa na voz dela, por que perguntou.
- Porque quer saber? Afinal o que está aqui a fazer? Não devia estar presa?
Deborah interveio mais uma vez.
- No dia em que foste ver a colecção, estava lá alguém contigo?
- Não - disse ele. - Só o Guy e eu. - Voltou a dar atenção a Deborah e ao tema que parecia dominar-lhe o pensamento. - Como disse deveria ser uma experiência para que nos entendêssemos. Eu devia dar pulos de alegria porque ele quisera fazer de pai durante quinze minutos. Deveria decidir que eu seria para ele um melhor filho do que o Adrian, já que esse é um idiota patético em comparação comigo, porque pelo menos eu consigo ir para a universidade sem me ir abaixo, sem precisar que a minha mama lá estivesse para me segurar na mão. Foi tudo tão estúpido, mas tão estúpido. Como se ele alguma vez fosse casar com ela. - bom, agora acabou tudo - disse-lhe Deborah. - Vais voltar para Inglaterra?
- Só que ela não conseguiu o que queria do Brouard - disse ele, lançando um olhar de desprezo a La Garenne. - Como se alguma vez o conseguisse. Como se alguma vez conseguisse dele alguma coisa. Tentei dizer-lho mas ela nunca me ouve. Qualquer pessoa inteligente poderia ver o que ele tencionava fazer.
- O que era? - perguntaram Deborah e China ao mesmo tempo. Stephen lançou-lhes o mesmo olhar de desprezo que lançara à casa com a sua mãe lá dentro.
- Ele tinha o que queria noutro lado - disse-lhes sumariamente. Fartei-me de lho dizer, mas ela não me ouviu. Não acreditava que tivesse tido tanto trabalho para o caçar... que tinha feito plástica e isso, embora tivesse sido ele a pagar... e entretanto ele andasse a dormir com outra. "É a tua imaginação", dizia-me ela. "Querido, não andas a inventar tudo isto só porque não tens tido muito êxito, pois não? Um dia também hás-de ter uma namorada. Vais ver. Um rapaz alto, bonito e forte como tu." Santo Deus, que vaca tão estúpida.
Deborah tentava passar tudo aquilo em revista para ver se compreendia alguma coisa: o homem, a mulher, o rapaz, a mãe e todas as razões para uma acusação.
- Conheces a outra mulher, Stephen? - Entretanto China aproximou-se ansiosa. Estavam por fim a chegar a algum lugar e Deborah fez um gesto para que ela não assustasse o rapaz, obrigando-o a ficar em silêncio, tal era o desejo de chegar ao fundo da questão o mais depressa possível.
- Claro que a conheço. É a Cynthia Moullin. Deborah olhou para China que abanou a cabeça.
- Quem é a Cynthia Moullin? - perguntou Deborah.
Afinal era uma colega dele. Uma adolescente que também se estava a preparar para os exames à universidade.
- Mas como sabes? - perguntou Deborah e, quando ele revirou os olhos, ela compreendeu a verdade.
- O senhor Brouard roubou-ta, não foi?
- Onde terá ido aquele estúpido cão? - disse à laia de resposta.
Quando o irmão não atendeu o telefone pela terceira vez sucessiva naquela manhã, Valerie Duffy não agüentou mais. Entrou no carro e dirigiu-se a La Corbière assim que Kevin partiu para trabalhar na propriedade, assim que Ruth acabou de tomar o pequeno-almoço e assim que ela própria conseguiu despachar os afazeres da casa. Sabia que ninguém daria por falta dela.
Logo que Valerie chegou à Casa das Conchas reparou na destruição do jardim fronteiro o que a assustou imediatamente, pois demonstrava bem o gênio do irmão. Henry era um homem bom - um irmão que a ajudava, um amigo fiel, um bom pai para as suas filhas - mas tinha um gênio que explodia numa questão de segundos. Depois de adulto nunca vira a sua fúria em acção, mas observara a destruição que ela causara. Contudo nunca dirigira a raiva contra um ser humano e era com isso que ela contava desde o dia em que fora a casa dele e o encontrara a aros scones que a filha mais nova mais gostava, para dizer a Henry que Guy Brouard, seu patrão e querido amigo, tinha relações sexuais regulares com a sua filha mais velha.
Fora a única maneira que ela encontrara de pôr fim àquele romance. Falar com Cynthia era como chover no molhado. "Estamos apaixonados, tia Vai", dissera a jovem com toda a inocência de uma jovem virgem desflorada por prazer. "Já alguma vez estiveste apaixonada?"
Nada conseguiu convencer a rapariga que homens como Guy Brouard não se apaixonavam. Nem sequer o facto de saber que ele andava com Anais Abbott ao mesmo tempo lhe fez a mínima diferença. "Ora, já falámos sobre isso. Não há outro remédio", dissera Cynthia. "De contrário as pessoas descobririam que ele andava comigo."
- Mas ele anda contigo? Tem sessenta e oito anos! Meu Deus, podia ser preso por causa disso.
- Claro que não, tia Vai, nós esperámos até eu ter idade suficiente.
- Esperaram... - Valerie viu imediatamente os anos que o irmão trabalhara para Guy Brouard em Lê Reposoir. Levava consigo uma das suas filhas, porque era importante para Henry passar algum tempo com as miúdas, uma de cada vez, para as compensar do facto de a mãe as ter abandonado para toda a vida partindo com uma estrela rock cujo brilho havia muito se extinguira.
Cynthia fora a que mais freqüentemente fizera companhia ao pai. Valerie não vira mal nenhum no caso até reparar nos primeiros olhares entre a jovem e Guy Brouard, até ter notado o contacto casual entre eles - uma mão que roçava no braço - até que por fim os seguiu, esperou e depois enfrentou a rapariga para ouvir o pior.
Tinha de dizer a Henry. Não havia outra possibilidade quando percebeu que não conseguia afastar Cynthia do caminho que ela se dispunha a seguir. E agora, prontas a cair sobre a sua cabeça, como uma guilhotina, esperavam-na as conseqüências de lho ter dito.
Encaminhou-se por entre os destroços do caprichoso jardim. O carro de Henry estava estacionado de um lado da casa, perto do celeiro onde trabalhava o vidro, mas que se encontrava fechado e trancado. Assim dirigiu-se até à porta, onde tentou acalmar-se antes de bater.
Disse para consigo que o irmão era assim. Que não tinha nada com que se preocupar nem nada a temer da parte dele. Tinham passado uma infância difícil em casa de uma mãe amargurada que - tal como acontecera com Henry - fora abandonada por um cônjuge infiel. Por isso partilhavam mais do que os laços familiares. Partilhavam recordações tão fortes que nada seria mais importante do que o modo como haviam aprendido a apoiar-se um no outro, a servir de pai um ao outro, na ausência física de um dos progenitores e no desaparecimento emocional do outro. Tinham tentado não dar importância àquilo. Tinham jurado que não haveria de lhes ensombrar a vida. Tinham falhado, mas a culpa não era de ninguém e, certamente, não fora assim por falta de determinação e de esforço de ambos.
A porta abriu-se de par em par ainda antes de ela poder bater e o irmão apareceu diante dela com um cesto de roupa apoiado na anca. Nunca lhe vira uma expressão tão sombria.
- Que raio queres tu, Vai? - perguntou-lhe e depois dirigiu-se para a cozinha, onde construíra um anexo que servia de zona de lavagens.
Enquanto seguia atrás de Henry não pôde deixar de reparar que ele lavava a roupa como ela lhe ensinara. A roupa branca, a escura e a de cor, toda ela cuidadosamente separada, e as toalhas à parte.
Ele viu que a irmã o observava e passou-lhe pelo rosto uma expressão de desprezo.
- Há lições que custam a morrer - disse.
- Tenho estado a telefonar para cá - disse ela. - Porque não atendeste? Tens estado em casa, não tens?
- Não quis. - Abriu a máquina de lavar, retirou uma carga que já estava lavada e meteu-a no secador. Ali perto, no tanque, a água caía ritmicamente sobre uma peça que estava de molho. Henry inspeccionou-a e deixou um esguicho de lixívia para logo mexer a roupa com uma enorme colher de pau.
- Isto não é bom para o teu negócio - disse Valerie. - As pessoas podem precisar de ti para te encomendar trabalho.
- Atendo o telemóvel - disse-lhe ele. - Os clientes ligam-me todos para lá.
Valerie praguejou em surdina quando o soube. Não tinha pensado no telemóvel dele. Porquê? Porque estivera demasiado assustada, preocupada e culpada tentando acalmar os seus nervos em franja.
- Ah, o telemóvel! Não tinha pensado nisso.
- Pois - disse ele e começou a meter uma nova carga de roupa na máquina. Era a roupa das miúdas: calças de ganga, camisolas e peúgas.
- Não pensaste nisso, Vai.
Ofendeu-a a nota de desprezo que escutou na voz do irmão, recusou-se a deixar-se intimidar e a sair de casa dele.
- Onde estão as miúdas, Harry?
Ele ergueu os olhos quando ela usou o diminutivo. Por um instante viu-o deixar cair a máscara de ódio que afivelara, e que voltara a ser o rapazinho que lhe dava a mão para atravessarem o passeio marítimo e irem tomar banho perto de Havelet Bay. É inútil esconderes-te de mim, Harry, desejava dizer-lhe. Mas preferiu esperar que ele lhe respondesse.
- Na escola. Onde mais haveria de ser?
- Estou a falar da Cyn - admitiu ela.
Ele não respondeu.
- Harry não podes mantê-la fechada... Ele apontou o dedo à irmã e disse:
- Não está fechada em parte alguma. Estás a ouvir? Não está.
- Então já a deixaste sair. Não dei por que tivesses tirado a grade da janela.
Em vez de responder, ele pegou no detergente e despejou-o sobre a roupa. Não o mediu e olhava para ela enquanto continuava a despejá-lo, como se a desafiasse a oferecer-lhe conselho. Mas ela fizera-o uma vez, apenas uma vez, infelizmente. E viera verificar se nada de mal resultara por ter dito, "Henry, tens de fazer alguma coisa."
- Então ela foi para algum lugar? - perguntou Valerie.
- Não quer sair do quarto.
- Abriste-lhe a porta?
- Não é preciso.
- Não é preciso? - Ela sentiu um arrepio percorrê-la embora a casa não estivesse fria.
- Não é preciso - repetiu Henry e como se quisesse ilustrar o que tinha dito, foi ao tanque para onde pingava a água e usou a colher de pau para tirar qualquer coisa lá de dentro.
Eram umas calcinhas de mulher que pingavam para o chão. Valerie viu a leve mancha que ainda existia nelas apesar de estarem de molho em lixívia. Sentiu uma onda de náusea quando percebeu exactamente a razão pela qual o irmão mantivera a filha fechada no quarto.
- Então ela não está - disse Valerie.
- Valha-nos isso. - Apontou com a cabeça na direcção dos quartos.
- Ela não quer sair. Podes falar com ela a ver se a convences. Mas tem a porta fechada à chave por dentro e tem gemido como uma gata a quem lhe afogaram as crias. Idiota! - Bateu com a porta da máquina de lavar, carregou nos botões e pô-la a trabalhar.
Valerie dirigiu-se à porta do quarto da sobrinha. Bateu e disse quem era.
- É a tia Vai, querida. Abre a porta, por favor - Mas lá dentro, Cynthia mantinha-se em silêncio. Neste momento Valerie pensou no pior. Cynthia? - gritou. - Cynthia! Quero falar contigo. Abre a porta, por favor. - De novo silêncio. Um silêncio de morte, inumano. Para Valerie parecia haver apenas uma razão para que uma rapariga de dezassete anos deixasse de gemer como uma gata e passasse ao silêncio sepulcral. Apressou-se a ir ter com o irmão.
- Temos de entrar no quarto dela - disse. - Pode ter feito alguma asneira...
- Que disparate. Vai sair de lá quando quiser. - Soltou uma gargalhada amarga. - Talvez tenha gostado de lá estar.
- Henry, não podes deixá-la...
- Não me digas o que posso e o que não posso fazer! - gritou ele. Não me digas mais porcaria nenhuma. Já me disseste que baste. Já fizeste a tua parte. Do resto trato eu como me apetecer.
Era aquele o maior receio de Valerie: o modo como o irmão ia tratar das coisas. Porque estava a tratar de uma coisa maior do que a actividade sexual da filha. Se tivesse sido um rapaz da cidade, ou da escola, Henry poderia ter avisado a filha dos perigos, poderia ter tratado de que ela tomasse todas as precauções para se salvaguardar do sexo casual mas, mesmo assim, tão importante para ela por ser uma coisa nova. Mas aquilo fora mais que o formar da consciência sexual da filha. Fora um acto de sedução e de traição tão profundo que, quando Valerie lho revelara pela primeira vez, ele não acreditara. Não conseguira acreditar. Recuara, afastando-se daquela informação como um animal atordoado por uma pancada na cabeça. "Escuta, Henry", dissera a irmã. "É verdade e se não fizeres alguma coisa, só Deus sabe o que pode acontecer a essa rapariga."
Tinham sido aquelas as palavras fatídicas: se não fizeres nada. O caso estava agora terminado e ela estava agora desesperada para saber o que ele tinha feito.
Henry olhou-a durante muito tempo e as palavras como me apetecer soaram entre eles como os sinos da Igreja de St. Martin. Valerie levou a mão à boca e encostou-a aos dentes como se aquele gesto a impedisse de dizer aquilo que pensava, aquilo que mais temia.
Henry entendeu-a como sempre o fizera. Olhou-a dos pés à cabeça.
- Estás com remorsos, Vai? Deixa-te disso, menina. Ela sentiu-se aliviada.
- Graças a Deus, Harry, porque eu... - Mas foi interrompida quando ele completou a confissão.
- Não foste a única a falar-me no assunto.
Capítulo 22
PELA PRIMEIRA VEZ DEPOIS DA MORTE DO IRMÃO, RUTH ENTROU NO quarto dele. Chegara à conclusão de que era o momento de escolher as roupas. Não porque se tratasse de uma necessidade imediata, mas porque assim ficaria ocupada e era isso que queria. Queria fazer qualquer coisa relacionada com Guy, qualquer coisa que a aproximasse da sua presença reconfortante, mas, ao mesmo tempo, que a afastasse o suficiente das muitas mentiras com que ele a tinha enganado.
Dirigiu-se ao guarda-fato e retirou do cabide o seu casaco de tweed preferido. Esperou um pouco para aspirar o aroma da loção de barbear e meteu a mão nos bolsos para retirar de lá um lenço, um rolo de pastilhas de mentol, uma esferográfica e um bocado de papel ainda intacto, arrancado a um bloco-notas. Estava dobrado num pequeno quadrado que Ruth desdobrou. e + = - 4ever! Fora inegavelmente escrito pela mão de uma adolescente. Ruth amarrotou imediatamente o papel e deu por si a olhar para a esquerda e para a direita como se tivesse medo que alguém a pudesse estar a observar: um anjo vingador que viesse em busca de uma prova em que ela tivesse tropeçado.
Não que precisasse de provas, ou que alguma vez tivesse precisado delas. Não precisava de provas para um facto monstruoso, que tinha visto desenrolar-se diante dos próprios olhos...
Ruth sentiu a mesma agonia do que no dia em que regressara inesperadamente mais cedo da reunião dos Samaritanos. Ainda não tinha um diagnóstico para as suas dores. Tinham-lhe dito que seria arterite e ela tomava aspirina enquanto esperava que tudo corresse pelo melhor. Mas naquele dia, a intensidade da dor não a deixara fazer nada e obrigara-a a voltar para casa para se poder deitar. Assim, abandonara a reunião muito antes do fim e voltara de carro para Lê Reposoir.
Subir as escadas exigiu-lhe um esforço supremo de vontade para combater a fraqueza. Ganhou a batalha e deslocou-se com dificuldade pelo corredor até chegar ao seu quarto ao lado do de Guy. Tinha a mão no puxador quando ouviu uma gargalhada. Depois uma voz de rapariga exclamou: "Guy, não faça isso. Está a fazer-me cócegas!"
Ruth ficou imóvel como uma estátua de sal, porque reconheceu a voz e, como tal, não foi capaz de se mexer dali. E não foi capaz de se mexer porque não podia acreditar. No entanto, disse para consigo, deveria haver uma explicação muito simples para aquilo que o irmão estava a fazer no quarto com uma adolescente.
Se se tivesse afastado rapidamente do corredor, poder-se-ia ter agarrado a essa certeza. Mas mesmo antes de ela pensar em desaparecer, a porta do quarto do irmão abriu-se e Guy saiu a vestir um roupão sobre o corpo nu, enquanto dizia lá para dentro.
- vou usar um lenço da Ruth. Vais ver que gostas.
Voltou-se e viu a irmã. Diga-se em abono da verdade que as suas faces coradas ficaram imediatamente cor de cera. Ruth avançou um passo, mas ele agarrou no puxador da porta e fechou-a.
- Que se passa? Guy? - chamou lá de dentro Cynthia Moullin enquanto Guy e a irmã se enfrentavam.
- Afasta-te, frère - disse Ruth.
- Meu Deus, Ruth, o que estás a fazer em casa? - perguntou ele em voz rouca.
- Suponho que vim ver - respondeu ela e empurrou-o para chegar à porta.
Ele não tentou impedi-la e agora ela gostaria de perceber porquê. Quase parecia que queria que ela visse tudo: a jovem na cama - esguia, bela, nua, fresca e tão pura - e a borla com que ele estivera a acariciá-la abandonada sobre a coxa.
- Veste-te - disse ela a Cynthia Moullin.
- Acho que não - foi a resposta da jovem.
Ali ficaram os três, como actores à espera de uma deixa que não vinha. Guy junto à porta, Ruth ao lado do guarda-fato, a jovem na cama. Cynthia olhou para Guy e ergueu uma sobrancelha e Ruth perguntou a si própria como seria que uma adolescente apanhada naquela situação poderia parecer tão segura do que aconteceria a seguir.
- Ruth - disse Guy.
- Não - disse Ruth. E, depois, voltando-se para a jovem. - Veste-te e sai desta casa. Se o teu pai te visse...
Não pôde dizer mais nada porque Guy dirigiu-se a ela e pôs-lhe o braço sobre os ombros. Disse de novo o nome dela. Depois, pronunciou-lhe ao ouvido umas palavras incríveis. "Ruthie, agora queremos estar sós, se não te importas. É óbvio que não sabíamos que voltarias tão cedo."
Foi a absoluta racionalidade da afirmação de Guy tendo em conta as circunstâncias que impeliram Ruth para fora do quarto. Saiu para o corredor e Guy murmurou: "Depois falamos", enquanto empurrava a porta. Antes de esta se fechar completamente, Ruth ouviu-o dizer para a miúda:
- Por agora parece que teremos de passar sem o lenço. - E depois o soalho antigo rangeu com os seus passos e a velha cama também rangeu quando ele se deitou sobre ela.
Depois - pareceram horas, embora provavelmente não fossem mais do que vinte e cinco minutos - a água correu durante algum tempo e ouviu-se o som do secador. Ruth estava deitada na cama e escutou os sons, tão domésticos e naturais que quase poderia fingir que se enganara no que tinha visto.
Mas Guy não lho permitiu. Veio ter com ela logo após a partida de Cynthia. Estava escuro e Ruth não acendera a luz. Teria preferido ficar indefinidamente na escuridão, mas ele não deixou. Dirigiu-se à mesa-de-cabeceira e ligou o candeeiro.
- Sabia que não estarias a dormir, ma soeur chérie - murmurou ele, olhando-a longamente e parecendo tão perturbado que a princípio Ruth pensou que ele iria pedir desculpa. Enganava-se.
Guy afundou-se numa cadeira estofada. Ruth reparou que ele parecia extasiado.
- É ela - disse como se falasse de uma relíquia sagrada. - Por fim apareceu. Acreditas, Ruth? Depois de tantos anos? Não há dúvida de que ela é a tal. - Ergueu-se como se não pudesse conter a emoção dentro de si. Começou a andar de um lado para o outro dentro do quarto. Enquanto falava, tocava nas cortinas da janela, na ponta do primeiro bordado de Ruth, no canto da cômoda, na renda que rodeava o naperão.
- Tencionamos casar - disse. - Não to estou a dizer porque nos descobriste assim... hoje. Tencionava dizer-to depois do aniversário dela. íamos dizer-te os dois juntos.
O aniversário dela. Ruth olhou para o irmão. Sentiu-se apanhada num mundo que não reconhecia, governado pela máxima "Faz o que for agradável; explica-te depois, mas só se fores apanhado."
- Vai fazer dezoito anos daqui a três meses - disse Guy. - Pensámos num jantar para comemorar... tu, o pai e as irmãs dela. Talvez o Adrian também venha de Inglaterra. Pensámos em que eu pusesse o anel entre os presentes dela e quando ela o abrisse... - sorriu. Ruth teve de admitir que ele parecia um rapazinho. - Vai ser uma surpresa. Consegues guardar segredo até lá?
- Isto é... - disse Ruth, mas não conseguiu encontrar as palavras. Só conseguia imaginar e aquilo que imaginava era demasiado terrível para enfrentar, por isso voltou a cabeça.
- Ruth, não tens nada a temer - disse Guy. - A tua casa é comigo como sempre foi. A Cyn sabe-o e também o deseja. Ama-te como... Não completou o que ia dizer.
Mas ela permitiu-se fazê-lo.
- Como uma avó - disse. - E o que é que isso faz de ti?
- No amor a idade não é importante.
- Meu Deus, tu tens mais cinqüenta anos...
- Sei muito bem quantos anos tenho - disse ríspido. Regressou para junto da cama e olhou para ela com uma expressão perplexa.
- Pensei que ficasses contente por nos amarmos, por querermos passar a vida juntos.
- Quanto tempo? - perguntou ela.
- Ninguém sabe quanto tempo tem de vida.
- Não, o que quero saber é há quanto tempo isto dura? Hoje... não pode ter sido... Ela parecia muito familiarizada.
A princípio Guy não respondeu e Ruth sentiu as palmas das mãos húmidas ao aperceber-se o que implicava a relutância do irmão.
- Diz-me. Se não disseres, diz-me ela.
- Desde que ela fez dezasseis anos, Ruth.
Era pior do que ela estava a pensar porque sabia o que aquilo significava: o irmão tinha tomado a jovem no próprio dia em que fora perfeitamente legal fazê-lo. Aquilo queria dizer que andava de olho nela sabia-se lá desde quando. Que tinha feito planos, que orquestrara cuidadosamente a sua sedução. Meu Deus, pensou, quando o Henry descobrisse... quando ele se apercebesse de tudo aquilo, tal como acontecera com ela...
- E a Anais? - perguntou atordoada.
- O que é que tem a Anais?
- Disseste o mesmo sobre ela, não te lembras? Disseste: "Ela é a tal." E nessa altura falavas verdade. Por isso o que te leva a pensar...
- Isto é diferente.
- Guy, é sempre diferente. No teu espírito é diferente. Mas é apenas por ser novidade.
- Não compreendes. Como poderias? As nossas vidas seguiram caminhos tão diferentes.
- Segui todos os teus passos - disse Ruth. - E este é...
- Maior - interrompeu ele. - Profundo, transformou-me. Se eu for suficientemente louco para a deixar e para abandonar aquilo que temos, então mereço ficar só para sempre.
- Mas e o Henry? Guy desviou os olhos.
Ruth viu então que Guy sabia muito bem que para conseguir Cynthia se aproveitara de forma calculista do seu amigo Henry Moullin. Viu que quando Guy dizia, "Vamos deixar que o Henry dê uma olhadela ao problema", acerca de qualquer coisa que havia na propriedade, fora o modo de conseguir o acesso à filha dele. E, tal como sem dúvida não deixaria de justificar as suas maquinações em relação a Henry, Ruth estava certa de que ele continuaria a afirmar, se ela lho exigisse, e aquilo não passasse de uma ilusão, que Cynthia era a mulher que o tinha conquistado. Acreditava que Cynthia Moullin era a tal. Mas também fora isso que acreditara a respeito de Margaret e depois de JoAnna e de todas as Margarets e JoAnnas até e incluindo Anais Abbott. Falava em casar com Cynthia porque ela tinha dezoito anos e ele gostava do que o seu ego masculino sentia. Mas em breve começaria a olhar para outro lado. Ou então seria ela. Mas em qualquer dos casos iria magoar muita gente. Iria arrasar várias pessoas. Ruth tinha de o impedir.
Por isso ela falara com Henry. Ruth dissera para consigo que cometera aquela acção para salvar Cynthia de ficar com o coração partido e precisava de acreditar que assim fora. Mil e uma coisas tinham tornado o romance entre o irmão e a adolescente mais do que apenas moral e eticamente reprovável. Se Guy não tinha coragem e juízo suficientes para o terminar delicadamente e para libertar a jovem, de modo a que ela tivesse uma vida completa e verdadeira - uma vida com futuro -, então teria de ser ela a tomar medidas.
Decidira dizer a Henry Moullin apenas parte da verdade: que talvez Cynthia se estivesse a afeiçoar demasiado a Guy. Que o facto de passar talvez demasiado tempo em Lê Reposoir em vez de o fazer com os amigos ou a estudar, arranjando desculpas para aparecer na propriedade de visita à tia, usando as suas horas livres para andar atrás de Guy. Ruth disse que poderia ser uma paixoneta de adolescente e que Henry talvez devesse falar com a jovem...
Ele assim fizera. Cynthia respondera com uma franqueza que Ruth não esperara. Não era um amor de adolescente, não era uma paixoneta, dissera ela placidamente ao pai. Paizinho não tens com que te preocupar. Tencionavam casar, porque ela e o amigo do pai eram amantes havia dois anos.
Então Henry entrou furioso em Lê Reposoir e encontrou Guy a dar de comer aos patos junto do jardim tropical. Stephen Abbott estava com ele, mas Henry não se importara com isso e gritara, "Seu nojento", e avançara para Guy. Vou matar-te, sacana. vou cortar-te o que tens entre as pernas e enfiar-to pelas goelas. Vai para o inferno. Tocaste na minha filha!"
Stephen fora a correr buscar Ruth e apenas conseguira balbuciar. Ela percebera o nome de Henry Moullin entre as palavras "a gritar por causa da Cyn", e deixara aquilo que estava a fazer para seguir o rapaz até lá fora. Apressou-se a percorrer o relvado do croquete, ouvindo ela própria a discussão. Olhou em redor aflita em busca de alguém que pudesse intervir, mas o carro de Kevin e Valerie desaparecera e apenas se encontravam ali ela e Stephen para acabarem com a violência.
Porque Ruth apercebera-se de que haveria certamente violência. Como fora estúpida ao pensar que um pai enfrentaria um homem que lhe tivesse seduzido a filha sem o querer estrangular, sem o querer matar.
Ouviu as pancadas quando se aproximou do jardim tropical. Henry gemia e gritava de raiva e os patos grasnavam, mas da parte de Guy o silêncio era sepulcral. Ruth soltou um grito e atravessou a sebe a correr.
Havia corpos por todos os lados. Sangue, penas e morte. Henry encontrava-se entre os patos que atacara com a tábua que ele próprio trouxera. Ofegava e tinha o rosto molhado de lágrimas.
Ergueu o braço trêmulo e apontou para Guy que se deixara ficar ali, junto à palmeira, atônito com um saco de comida espalhada a seus pés.
- Afasta-te - disse Henry em tom sibilante. - Se lhe voltas a tocar, mato-te.
Agora, no quarto de Guy, Ruth revivia tudo aquilo. Sentia o peso tremendo da sua responsabilidade naquilo que acontecera. As boas intenções não tinham sido o suficiente. Não tinham poupado Cynthia, não tinham salvo Guy.
Dobrou lentamente o casaco do irmão. Voltou-se também lentamente para o guarda-fato para retirar lá de dentro outra peça de roupa.
Enquanto retirava umas calças do cabide, a porta abriu-se e Margaret Chamberlain apareceu.
- Quero falar contigo, Ruth - disse. - Conseguiste evitar-me ontem ao jantar... o dia difícil, a arterite, o repouso que te fazia falta... foi muito conveniente para ti. Mas agora não vais evitar-me.
Ruth abandonou o que estava a fazer.
- Não te evitei.
Margaret fez um trejeito de desprezo e entrou no quarto. Ruth reparou que a cunhada tinha um ar desarranjado. O penteado apanhado que geralmente se mostrava impecável, tinha madeixas de cabelo a cair do carrapito. A bijutaria não ficava bem com a toilette daquele dia e esquecera-se dos óculos de sol que usava no alto da cabeça estivesse bom ou mau tempo.
- Fomos falar com um advogado - anunciou. - O Adrian e eu. Claro que sabias que o faríamos.
Ruth pousou as calças de Guy sobre a cama.
- Sim - disse.
- E é óbvio que ele também. E foi por isso que tratou de nos cortar as vazas antes que pudéssemos fazer alguma coisa.
Ruth nada disse.
Margaret apertou os lábios.
- Foi ou não foi, Ruth? - perguntou com um sorriso malévolo. O Guy não sabia exactamente como eu reagiria quando ele deserdasse o seu único filho?
- Margaret, ele não deserdou...
- Não finjas que não foi assim. Investigou as leis desta porcaria de ilha e descobriu o que aconteceria à sua fortuna se não a passasse para as tuas mãos. E nem sequer a poderia vender sem ter dito primeiro a Adrian, por isso tratou de que nunca lhe pertencesse. Que belo plano, Ruthie. Espero que tenhas gostado de destruir os sonhos do teu único sobrinho, porque esse foi o resultado.
- Não teve nada a ver com a destruição de ninguém - disse-lhe Ruth calmamente. - O Guy não tratou assim das coisas por não gostar dos filhos, nem o fez para os magoar.
- Pois bem, mas agora é assim que estão as coisas.
- Por favor, Margaret, escuta. O Guy não... - Ruth hesitou tentando decidir como haveria de explicar à ex-mulher do irmão que nada era tão simples como parecia; como haveria de a fazer compreender que parte daquilo que Guy era, era o que Guy queria que os filhos fossem. - Ele não acreditava que os pais devessem dar um empurrão aos filhos. Era assim, ele criou-se a partir do nada e queria que os filhos tivessem a riqueza dessa mesma experiência. A confiança que apenas...
- Isso é o mais completo dos absurdos - disse Margaret zangada.
- Tudo isso me parece grotesco diante de tudo o que... sabes que sim, Ruth, sabes muito bem. - Deteve-se, parecendo fazer um esforço para ordenar os pensamentos de modo a poder defender as suas idéias e a alterar uma situação que já era concreta. - Ruth - disse ela já mais calma -, a idéia de construir uma vida é dar aos filhos mais do que nós tivemos. Não é colocá-los na mesma posição para que tenham de lutar como nós lutámos. Porque haveria alguém de tentar ter um futuro melhor do que o seu presente se soubesse que isso não servia para nada?
- Mas serve. Para aprender, para crescer. Para enfrentar os desafios e para os ultrapassar. Guy acreditava que o caracter se forma a construir a vida. Ele fê-lo e foi um homem melhor. E era isso que queria para os filhos. Não queria que se encontrassem na posição de nunca mais terem de trabalhar. Não queria que sofressem a tentação de não fazerem nada na vida.
- Ah, mas isso não se aplica aos outros dois. Eles podem ser tentados, porque, seja lá como for, não devem lutar, não é?
- As filhas da JoAnna estão na mesma posição que o Adrian.
- Não estou a falar das filhas do Guy e tu sabes muito bem - disse Margaret. - Estou a falar dos outros dois. Do Fielder e da Moullin. Vendo bem, cada um deles vai receber uma fortuna. O que tens a dizer a esse respeito?
- São casos especiais. São diferentes. Não tiveram privilégios...
- Ah, pois não. Mas agora agarram-se a eles, não é, Ruthie? - Margaret soltou uma gargalhada e dirigiu-se ao guarda-fato aberto. Tocou num monte de camisolas de caxemira que Guy preferia às camisas e gravatas.
- Eram especiais para ele - disse Ruth. - Netos adoptivos, suponho que se poderiam chamar assim. Era para eles uma espécie de mentor e eles eram...
- Ladrões - disse Margaret. - Mas têm de ser recompensados apesar do que andaram a roubar.
- Ladrões? - Ruth franziu a testa. - De que estás a falar?
- Disto: apanhei o protegido do Guy... ou queres que o continue a considerar neto dele, Ruth?... a roubar nesta casa. Ontem de manhã. Na cozinha.
- Provavelmente o Paul estava com fome. A Valerie dá-lhe muitas vezes de comer, deve ter levado um biscoito.
- E meteu-o na mochila? E atiçou-me o rafeiro quando eu tentei ver o que ele tinha rapinado? Vais deixá-lo sair daqui com as pratas, Ruth? Ou com uma das antigüidades do Guy? Ou com uma jóia? Ou seja com o que for que ele levou? Fugiu quando nos viu... a mim e ao Adrian... e se achas que ele não é culpado então podes perguntar-lhe porque agarrou naquela mochila e a arrancou das nossas mãos quando tentámos tirar-lha.
- Não acredito em ti - disse Ruth. - Paul não levaria uma única coisa desta casa.
- Ah não? Então sugiro que se peça à polícia que reviste aquela mochila.
Margaret pegou no auscultador do telefone e entregou-o à cunhada com ar provocador.
- Telefono eu ou telefonas tu, Ruth? Se o rapaz está inocente, nada tem a temer.
O banco de Guy era em Lê Pollet, uma estreita extensão da High Street paralela à parte norte do passeio marítimo. Era uma rua relativamente curta e sombria mas, mesmo assim, cheia de edifícios com mais de trezentos anos. Servia para recordar a evolução das cidades: um casarão antigo e imponente do século XVIII, construído em granito entalhado e pedras angulares, fora transformado durante o século XX num hotel, enquanto duas casas do século XIX tinham sido transformadas em lojas de roupa. As montras de vidro das frontarias eduardinas tão perto da casa recordavam a vida comercial que tinha florescido naquela zona nos dias anteriores à Primeira Guerra Mundial, enquanto por trás se erguera a moderna sucursal de uma instituição bancária de Londres.
O banco que Lê Gallez e St. James procuravam encontrava-se no extremo de Lê Pollet, perto da praça de táxis do cais. Foi para lá que se dirigiram acompanhados pelo inspector Marsh, do Departamento de fraudes Fiscais, um homem ainda novo com suíças antiquadas que comentou para o inspector:
- Não acha que estamos a exagerar um pouco?
- Dick - respondeu severamente Lê Gallez -, gosto de lhes dar desde o início razões para que cooperem. Poupam-me tempo.
- Diria que bastava um telefonema da inspecção de finanças comentou Marsh.
- A minha política é não deixar escapar nada e não é agora que vou mudar. A inspecção de finanças poderia soltar-lhes a língua, mas uma visita do departamento de fraudes... vai soltar-lhes os intestinos.
O inspector Marsh sorriu e revirou os olhos.
- Vocês, os fulanos dos homicídios, nunca têm gozo suficiente.
- Andamos sempre à procura dele, Dick. - Abriu a pesada porta de vidro do banco e fez St. James entrar.
O director era um homem chamado Robilliard e afinal Lê Gallez já o conhecia bem. Quando entraram para o seu gabinete o director levantou-se da cadeira e disse:
- Louis, como tens passado. - E estendeu a mão ao inspector. Temos sentido a tua falta no futebol. Que tal vai esse tornozelo?
- Já recuperou.
- Então esperamos por ti no campo este fim-de-semana. Pelo teu aspecto precisas de algum exercício.
- São os croissants todas as manhãs. Estão a dar cabo de mim admitiu Lê Gallez.
Robilliard soltou uma gargalhada.
- Só os gordos morrem jovens.
Lê Gallez apresentou os companheiros ao director e disse:
- Viemos para uma conversa acerca do Guy Brouard.
- Ah!
- O banco dele era este, não é verdade?
- E da irmã também. Há alguma coisa de estranho nas contas dele?
- Desculpa, David, mas parece que sim. - Lê Gallez passou a explicar o que sabiam: o desaparecimento de um significativo portefólio de acções e títulos seguidos de uma série de levantamentos daquele banco, feitos durante um período relativamente curto. Por fim, concluiu, a conta dele parecia ter ficado praticamente desprovida de fundos. Agora o homem estava morto... como Robilliard provavelmente teria sido informado nas últimas semanas... e a sua morte fora um homicídio. - Temos que dar uma olhadela a tudo - concluiu Lê Gallez.
- Claro que sim - respondeu-lhe Robilliard com ar pensativo. Mas usar os documentos do banco como prova... Vão precisar de uma ordem do tribunal, como suponho que saibam.
- Evidentemente - respondeu Lê Gallez. - Mas apenas queremos informações neste momento. Por exemplo, para onde foi o dinheiro e como.
Robilliard considerou o pedido. Os outros aguardaram. Lê Gallez já tinha explicado a St. James que um telefonema da inspecção de finanças seria o suficiente para conseguir informações do banco, mas que preferia um toque mais pessoal. Seria não só mais eficaz, mas também mais rápido. Por lei, as instituições financeiras eram obrigadas a explicar às finanças as transacções suspeitas quando estas o solicitassem. Mas não eram obrigadas a fazê-lo imediatamente. Havia dezenas de maneiras de o demorarem. Por essa razão pedira a presença do Departamento de Fraudes na pessoa do inspector Marsh. Guy Brouard já estava morto havia demasiados dias para que eles tivessem tempo de esperar que o banco tratasse das coisas conforme a lei o exigia.
- Desde que compreendam a situação no que diz respeito a provas... - disse por fim Robilliard.
Lê Gallez bateu na testa.
- Tenho tudo aqui, David. Diz-nos o que puderes.
O director foi tratar pessoalmente do assunto, deixando-os a gozar a vista do porto e do pontão de St. Julian que se avistava da sua janela.
- com um bom telescópio via-se França daqui - comentou Lê Gallez.
- Mas quem o desejaria? - inquiriu Marsh e os dois homens riram-se como habitantes de uma ilha, cuja hospitalidade para com os turistas já não era grande coisa.
Quando Robilliard voltou para junto deles cinco minutos mais tarde, trazia umas folhas impressas. Apontou para uma pequena mesa de reuniões, onde todos se sentaram e colocou as folhas retiradas do computador diante dele.
- Guy Brouard tinha uma conta enorme - disse. - Não era tão grande como a da irmã, mas era grande. Na dela poucos movimentos houve nos últimos meses mas, se considerarmos a do senhor Brouard... dono dos Chateuax Brouard e a extensão dos seus negócios, não havia qualquer razão para alarme.
- Mensagem recebida - disse Lê Gallez. - Percebeste, Dick?
- Até aqui não há problema - respondeu Marsh.
St. James teve de admirar o modo como aqueles homens estavam a tratar das coisas ali na cidade. Imaginava a complicação que seria se as partes começassem a solicitar que tudo fosse feito pelas vias judiciais ou se houvesse ingerência da inspecção fiscal. Esperou para ver o que se passava e não se arrependeu.
- Ele fez várias transferências para Londres - disse-lhes Robilliard. Todas para o mesmo banco e para a mesma conta. Começaram - olhou para as folhas que tinha diante de si - há cerca de oito meses. Continuaram pela Primavera e pelo Verão em montantes cada vez maiores, culminando numa última transferência no final de Outubro. A primeira é de cinco mil libras. A última de duzentas e cinqüenta mil.
- Duzentas e cinqüenta mil libras? E tudo isso sempre para a mesma conta? - perguntou Lê Gallez. - Valha-me Deus, David, mas quem é que toma conta aqui da loja?
Robilliard corou ligeiramente.
- Como já te disse, os Brouard têm contas volumosas. Ele tinha um negócio com sucursais em todo o mundo.
- Ele estava reformado, caraças!
- Pois sim. Mas se as transferências tivessem sido feitas por uma pessoa que não conhecêssemos muito bem, se se tratasse de uma situação de depósitos e levantamentos levada a cabo por um estrangeiro que vivesse aqui, teríamos dado o sinal de alarme. Mas nada sugeria uma irregularidade. - Descolou um post-it amarelo do cimo das páginas impressas. - A conta em que o dinheiro foi depositado é a da International Access com uma morada em Bracknell. Francamente, pensei que se tratasse de uma companhia nova em que o Brouard quisesse investir. Se investigarem, aposto que é exactamente isso que vão descobrir.
- Diz antes que gostarias que nós descobríssemos - disse Lê Gallez.
- Não sei mais nada - retorquiu Robilliard. Lê Gallez não desistiu.
- É tudo o que sabes ou tudo o que nos queres dizer, David? Robilliard bateu com a mão sobre os papéis.
- Podes ver, Louis. Aqui não há nada que te possa fazer pensar o contrário daquilo que aparenta ser.
Lê Gallez estendeu a mão para o papel. - Está bem. Vamos lá ver isso.
Lá fora, os três homens detiveram-se diante de uma padaria e Lê Gallez contemplou com ar desejoso os croissants de chocolate que estavam na montra. O inspector Marsh disse:
- Estes números devem ser investigados. Mas como o Brouard está morto, em Londres não se vão dar ao trabalho de o fazerem rapidamente.
- Pode ter sido uma transacção legítima - comentou St. James. Creio que o filho, Adrian Brouard, vive em Londres. E ele tem também mais duas filhas. Há a possibilidade de um deles ser o dono da International Access e que o Brouard estivesse a dar-lhe um empurrão.
- Investimento de capitais - disse o inspector Marsh. - Precisamos de alguém em Londres que trate das coisas com o banco. vou telefonar para lhes dar uma palavrinha, mas neste momento aposto que vão exigir uma ordem do tribunal. Pelo menos o banco. Se telefonasse para a Scotland Yard...
- Eu conheço uma pessoa em Londres - interrompeu St. James. Uma pessoa na Scotland Yard. Pode ajudar-nos. vou ligar-lhe. Mas entretanto... - Considerou aquilo que soubera nos últimos dias e as pistas prováveis que cada informação apresentava e que já seguira. - Se não se importa eu trato das coisas de Londres - disse para Lê Gallez. - Depois acho que é tempo de se ter uma conversa franca com o Adrian Brouard.
Capítulo 23
- VÊS COMO SÃO AS COISAS, RAPAZ - DISSE O PAI A PAUL, AGARRANDO-lhe o tornozelo e sorrindo afectuosamente, embora Paul lhe lesse a tristeza no olhar. Lera-a até antes de o pai lhe ter pedido que fosse lá acima ter com ele ao quarto para terem uma conversa em
particular. O telefone tocara e OI Fielder atendera.
- Sim, senhor Forrest. O rapaz está sentado mesmo aqui. - Depois escutou com atenção e a expressão do rosto transformara-se-lhe lentamente de prazer em desilusão, de preocupação num disfarçado de". pontamento. - Muito bem - disse no final dos comentários de Dominic Forrest. - Mesmo assim é uma boa quantia e posso dizer-lhe que o nosso Paul também a vai apreciar.
Depois pedira a Paul que fosse ter com ele lá acima, fingindo não ouvir as palavras de Billy:
- Mas afinal o que é isto? O nosso Paulie já não vai ser milionário?
Tinham ido para o quarto de Paul e este sentara-se encostado à cabeceira da cama. O pai sentou-se na beira e explicou-lhe que aquilo que o senhor Forrest a princípio tinha pensado que seria uma herança de setecentas mil libras era afinal uma quantia de cerca de sessenta mil. Muito menos do que o senhor Forrest lhes dera a entender, mas mesmo assim uma soma considerável. Paul poderia usá-la de várias maneiras: indo para um instituto tirar um curso técnico, para a universidade, a viajar. Podia comprar um carro para não ter de andar mais na sua velha bicicleta. Podia estabelecer-se num pequeno negócio, se o desejasse, ou até comprar uma casinha algures. É verdade que não poderia ser muito boa, nem grande, mas poderia trabalhar nela, arranjá-la, torná-la bonita para quando um dia se casasse... Ora, eram apenas sonhos, mas era bom sonhar. Todos sonhamos, não é verdade?
- Ainda não tinhas pensado como havias de gastar todo o dinheiro, "ois não, rapaz? - perguntou OI Fielder afectuosamente depois de concluir a explicação. Deu uma palmadinha na perna do filho. - Não? Tamém achava que não. Tu tens muito juízo nestas coisas. Ainda bem que deixaram o dinheiro, Paulie, e não a... bom sabes o que eu quero dizer.
- Então são essas as novidades? Grande gozo.
Paul ergueu os olhos e viu que o irmão tinha vindo ter com eles, como de costume sem ter sido convidado. Billy estava encostado à mbreira da porta. Lambia a cobertura de um bolo.
- Parece que afinal o nosso Paulie não vai passar a viver à grande ira só sei que acho que é muito bom, porque nem sei como havia de viver sem ele a masturbar-se todas as noites na cama.
- Já chega, Bill. - OI Fielder ergueu-se e endireitou as costas. Suponho que esta manhã tenhas alguma coisa para fazer, como todos nós.
- Isso querias tu, não? - disse Billy. - Não, não tenho nada para fazer, parece que sou diferente de vocês, pessoal. Para mim não é tão fácil arranjar emprego.
- Podias ao menos tentar - disse OI Fielder ao filho. - É só por isso que és diferente, Bill.
Paul olhou para o irmão e para o pai. Depois baixou os olhos para as pernas das calças. Viu que estavam num fio, quase a desfazer-se se se lhes tocasse. Demasiado usadas, pensou, sem ter outras para vestir.
- Oh, então é isso, não é? - perguntou Billy. Paul estremeceu ao ouvir aquele tom de voz porque sabia que a declaração do pai, embora
bem-mtencionada era um convite para Bill explodir. Havia meses que acumulava a sua raiva e estava à espera de uma desculpa para a deixar sair. Piorara quando o pai se deixara levar para as obras da estrada, deixando Billy a lamber as feridas. - É a única diferença, não é, pai? não há mais nada?
- Conheces os factos, Bill.
Billy avançou um passo para dentro do quarto. Paul encolheu-se na cama. Billy era da altura do pai e, embora OI fosse mais pesado, era demasiado pacífico. Além do mais seria um desperdício de energia. Tinha de a aproveitar para fazer todos os dias o seu trabalho nas obras da estrada e mesmo se não fosse esse o caso, não era homem para lutar.
Claro que esse fora sempre o problema aos olhos de Billy: o facto de dentro do pai não haver força para combater. Todas as bancas do mercado de St. Peter Port tinham recebido o aviso de que as licenças não seriam renovadas, porque o local iria ser fechado para dar lugar a um novo projecto com butiques elegantes, antiquários, cafés e lojas para turistas. Os talhos, peixarias e bancas de hortaliças deveriam ficar vagas uns a seguir aos outros, à medida que as licenças fossem terminando ou imediatamente. Não importava a quem mandava desde que saíssem quando lhes dessem ordem para tal.
- Vamos lutar - dissera Billy ao jantar. Noite após noite fizera planos. Se não podiam vencer lançariam fogo ao local porque ninguém tomaria o negócio da família Fielder sem pagar um preço.
Não era aquela a opinião do pai, claro. OI Fielder sempre fora um homem de paz.
Tal como o era agora com Billy na frente dele, procurando a ocasião para desencadear as hostilidades
- Tenho de ir trabalhar, Bill - disse o pai. - O melhor seria arranjares um emprego.
- Eu tinha um emprego - respondeu-lhe Billy. - Tal como tu, tal como o meu avô e o meu bisavô.
OI abanou a cabeça.
- Esse tempo já passou, filho. - Fez um gesto para se aproximar da porta.
Billy agarrou-o por um braço.
- Tu és um monte de merda inútil - disse Billy ao pai, enquanto Paul soltava um grito estrangulado de protesto. - E tu não te metas, meu paspalho maricas - vociferou em direcção ao irmão.
- vou trabalhar, Bill - disse o pai.
- Não vais a parte alguma. Agora estás a falar comigo e a olhar para aquilo que fizeste.
- As coisas mudam - disse OI Fielder ao filho.
- Pois que mudem - disse Billy. - Aquilo era nosso. Era o nosso trabalho. Era o nosso dinheiro. O nosso negócio. O avô deixou-to. O- pai dele construiu-o e deixou-lho. Mas tu lutaste por ele? Tentaste salvá-lo?
- Sabes muito bem que não o podia salvar.
- Deveria ser meu assim como foi teu. Era isso que eu deveria fazer.
- Lamento muito - disse OI.
- Lamentas? - Billy abanou o braço do pai. - E de que merda serve lamentares? Não vai mudar nada.
- E o que é que vai mudar? - perguntou OI Fielder. - Larga o meu braço.
- Porquê? Tens medo porque te está a doer? Foi por isso que não lhes quiseste fazer frente? Tiveste medo que te batessem, pai? Que te esmurrassem e fizessem nódoas negras?
E - Filho, tenho de ir trabalhar. Deixa-me. Não insistas mais, Billy.
- Insisto o que me apetecer. E vais quando eu disser que podes ir.
Agora vamos falar deste assunto.
- Sabes bem que não adianta.
- Não digas isso! - Billy erguia a voz. - Não te atrevas. Trabalhei com carne desde os dez anos. Aprendi o ofício. Sabia fazê-lo. Todos estes anos, pai. Tinha sangue nas mãos e na roupa, o cheiro era tão forte
que me chamavam o Sangrador. Sabias, pai? Mas eu não me importava porque era a minha vida e era uma vida que eu estava a construir. Aquele talho era meu e agora não é nada e foi com nada que fiquei. Deixaste que o destruíssem porque não querias que te despenteassem o cabelo. E eu com que fiquei? Diz-me lá, pai!
- Acontece, Bill.
- A mim não! - gritou Billy. Largou o braço do pai e empurrou-o. E Empurrou-o uma, duas, três vezes e OI Fielder nada fez para o impedir. - Luta comigo, caraças - gritava Billy a cada empurrão. - Luta comigo! Luta comigo!
Sentado na cama, Paul via tudo aquilo como que através de uma névoa. Algures dentro de casa, ouviu o ladrar fraco de Taboo e vozes desconhecidas. A televisão, pensou. E, onde está a mãe? Será que não ouve? Será que não vem cá acima para que ele pare? Não que ela pudesse fazer alguma coisa. Não que alguém pudesse agora ou em qualquer outro momento. Billy gostava da violência que o desmanchar da carne sugeria. Gostava dos cutelos e dos golpes que dava para partir a carne e os ossos em bocados. Como aquilo tinha desaparecido da sua vida havia meses que não conseguia sentir o poder de dizimar qualquer coisa, de destruir até não deixar nada. Estava tudo recalcado dentro dele, aquela necessidade de fazer mal, e estava prestes a extravasá-lo. - Não vou lutar contigo, Billy - disse OI Fielder enquanto o filho o empurrava pela última vez. Tinha a barriga das pernas encostada à " cama e deixou-se cair nela. - Não luto contigo, filho. - Tens medo de perder? Vá! Levanta-te. - E Billy usou o pulso para bater com força no ombro do pai. OI Fielder estremeceu. Billy sorriu sem vontade. - Sim. É isso mesmo. Já provaste? Levanta-te, idiota. Levanta-te. Levanta-te.
Paul estendeu a mão para puxar o pai para uma segurança que não existia. Billy voltou-se para ele.
- Tu não te metas, maricas, ouviste? Ele e eu temos umas coisas a tratar. - Agarrou no queixo do pai e espremeu-o, voltando-lhe a cabeça para o lado de modo a que Paul pudesse ver claramente o rosto do pai.
- Vê esta fronha - disse Billy. - Um verme patético. Não quer lutar comigo.
Os latidos de Taboo eram agora mais ruidosos. As vozes aproximavam-se.
Bill voltou de novo o rosto do pai. Apertou-lhe o nariz e agarrou-lhe as duas orelhas.
- O que é preciso fazer para que te tornes um homem, pai? OI afastou as mãos do filho.
- Basta! - declarou em voz alta.
- Já? - Billy riu-se. - Pai. Pai. Só agora começámos.
- Eu disse basta! - gritou OI Fielder.
Era aquilo que Billy queria e dançava deliciado. Tinha os punhos fechados e ria dando socos no ar com uma expressão de triunfo. Voltou-se para o pai imitando os gestos de um pugilista.
- Onde vai ser? Aqui ou lá fora?
Avançou para a cama e um dos murros atingiu a fronte do pai antes de o quarto se encher de gente. Homens de uniforme azul entraram à força pela porta seguidos de Mave Fielder que trazia ao colo a filha mais nova. Logo atrás vinham os rapazinhos do meio, com doce na cara e as torradas na mão.
Paul pensou que alguém tivesse vindo separar o pai e o irmão mais velho. Que alguém tivesse telefonado à polícia e que eles estivessem ali perto e pudessem ter chegado num tempo recorde. Que tratariam do assunto e que levariam Billy dali. Que o meteriam na cadeia e que, por fim, haveria paz naquela casa.
Mas o que aconteceu foi muito diferente.
- Paul Fielder? - disse um deles a Billy. - O senhor chama-se Paul Fielder? - E o outro avançava na direcção do irmão de Paul enquanto perguntava a OI. - Que se passa aqui? Há algum problema?
OI Fielder disse que não, que não havia qualquer problema. Que estavam a resolver um assunto de família.
Este é o seu filho Paul, quis saber o agente.
- Querem o nosso Paulie - disse Mave Fielder ao marido. - Não querem dizer porquê, OI.
- Acabaram por te apanhar - guinchou Billy. - Se calhar estiveste a dar espectáculo numa casa de banho pública. Eu avisei-te que não andasses por esses sítios, não avisei?
Paul estremeceu encostado à cabeceira da cama. Viu que um dos seus irmãos mais novos segurava Taboo pela coleira. O cão continuava a ladrar e um dos agentes disse:
- São capazes de calar a boca a essa coisa?
- Tem uma arma? - perguntou Billy com uma gargalhada.
- Bill! - exclamou Mave. E depois - OI? OI? Que se passa? Mas claro que OI Fielder sabia o mesmo que todos os outros. Taboo continuava a ladrar e debatia-se tentando escapar ao irmão mais novo de Paul.
- Façam alguma coisa a esse maldito animal - ordenou o agente! Paul sabia que Taboo apenas queria que o libertassem. Só queria saber se ninguém tinha magoado Paul.
- Pronto, deixem que eu... - disse o outro agente. Agarrou na coleira de Taboo e arrastou-o dali.
O cão mostrou os dentes e mordeu. O agente soltou um grito e deu-lhe um pontapé com toda a força. Paul escapou-se da cama para ir ter com o cão, mas Taboo tinha fugido a ganir pelas escadas abaixo.
Paul tentou ir atrás dele, mas foi impedido. A mãe gritava.
- Que fez ele? Que fez ele? - Enquanto Billy ria como um louco. Os pés de Paul escorregaram e um deles atingiu sem querer uma perna do agente. O homem gemeu e quase largou Paul. Isto deu tempo a Paul para agarrar na sua mochila e fugir até à porta.
- Detenham-no! - gritou alguém.
Não foi muito difícil. O quarto estava tão cheio que não havia lado nenhum para onde ir nem onde se pudesse esconder. Pouco tempo depois Paul era conduzido pelas escadas abaixo e para fora de casa.
A partir desse momento existiu apenas dentro de um turbilhão de imagens e sons. Ouvia a mãe a perguntar continuamente o que queriam ao seu pequeno Paulie e a voz do pai que dizia: "Mave, filha, tenta acalmar-te." Ouvia Billy a rir e Taboo algures a ladrar; lá fora os vizinhos esperavam-no. Por cima deles viu que o céu estava azul pela primeira vez em muitos dias e nele as árvores que rodeavam o velho parque de estacionamento pareciam desenhadas a carvão.
Antes que percebesse o que lhe estava a acontecer, viu-se no assento de trás de um carro da polícia agarrando a mochila contra o peito. Sentiu os pés frios e olhou para eles apercebendo-se de que não tinha calçado os sapatos. Trazia ainda os velhos chinelos de quarto e ninguém pensara em dar-lhe tempo para vestir um casaco.
A porta do carro bateu e o motor rugiu. Paul ouviu que a mãe continuava a gritar. Voltou a cabeça quando o carro começou a andar e viu a família desaparecer ao longe.
Depois, saído da multidão, Taboo começou a correr atrás deles. Ladrava furiosamente com as orelhas ao vento.
- Maldito cão - murmurou o agente que ia ao volante. - E se não é capaz de voltar para casa...
- O problema não é nosso - disse o outro.
Saíram do Bouet e entraram em Pitronnerie Road. Quando chegaram a Lê Grand Bouet e ganharam velocidade, Taboo corria freneticamente atrás deles.
Deborah e China tiveram algumas dificuldades para encontrar a casa de Cynthia Moullin em La Corbière. Tinham-lhes dito que era vulgarmente conhecida como a Casa das Conchas e que não poderiam deixar de a ver, apesar de estar situada num caminho com a largura aproximada à de uma roda de bicicleta; este era, por sua vez, o prolongamento de outro que serpenteava por entre vaiados e sebes. Só à terceira tentativa viram por fim uma caixa de correio feita de cascas de ostras e chegaram à conclusão de que poderiam ter encontrado o local que procuravam. Deborah estacionou o carro no acesso e puderam então apreciar os destroços de mais conchas no jardim.
- A casa outrora conhecida como a Casa das Conchas - murmurou Deborah. - Não admira que a princípio não a tivéssemos visto.
O local parecia deserto: não havia outro carro no caminho de acesso, via-se um celeiro fechado e as cortinas corridas nas janelas de painéis de vidro. Mas quando saíram do carro e seguiram um caminho ladeado de conchas, repararam numa jovem acocorada no extremo oposto do que fora um estranho jardim. Abraçava o cimo de um pequeno poço coberto
de conchas e a sua cabeleira loura descansava na borda. Parecia mais uma estátua de Viola1 depois do naufrágio e nem se mexeu quando Deborah e China se aproximaram.
Contudo falou:
- Vai-te embora. Não quero ver-te. Telefonei à minha avó e ela disse-me que eu podia ir para Alderney. Ela quer-me lá e eu tenciono ir.
- Cynthia Moullin? - perguntou Deborah à rapariga.
Esta ergueu a cabeça sobressaltada. Olhou para China e para Deborah como se tentasse perceber de quem se tratava. Depois olhou para trás
para ver se vinham acompanhadas por outra pessoa. Como não
vinha ninguém com elas, pareceu ficar mais descansada. O seu rosto retomou a expressão de desespero.
- Pensei que fosse o meu pai - disse ela em voz fraca e encostou de novo a cabeça à borda do poço. - Quem me dera estar morta. - E agarrou-se ainda mais ao poço.
- Sei como te sentes - declarou China.
- Ninguém sabe - respondeu Cynthia. - Ninguém sabe porque este sentimento é meu. Ele está contente. Disse-me, "Agora já podes tratar da rua vida. Não vale a pena chorar sobre o leite derramado. O que acabou, acabou." Mas não é assim. Ele é que pensa que acabou. Mas nunca acabará. Pelo menos para mim. Nunca esquecerei.
- Porque o teu romance com o senhor Brouard acabou? - perguntou Deborah. - Porque ele está morto?
A jovem ergueu de novo os olhos ao ouvir mencionar o nome de Brouard.
- Quem é a senhora?
Deborah explicou-lhe. Durante a vinda de Lê Grand Havre, China tinha-lhe dito que nunca ouvira um sopro que fosse acerca de Guy Brouard e de uma mulher chamada Cynthia Moullin enquanto estivera em Lê Reposoir. Tanto quanto sabia Anais Abbott era a única amante de Guy Brouard "e os dois agiam como tal", dissera. Por isso era evidente que esta jovem já estava fora de cena antes da chegada dos River a GuerInsey. Restava descobrir porquê e instigada por quem.
Os lábios de Cynthia começaram a tremer quando Deborah se lhe apresentou, lhe disse quem China era e lhe expôs a razão da visita de ambas à Casa das Conchas. Quando acabou de lhe explicar, as primeiras
1 Heroína da peça A Noite de Reis de William Shakespeare. [N. da T. ]
lágrimas corriam pelas faces da jovem. Não fez nada para o impedir. Caíam-lhe sobre a camisola cinzenta que vestia, marcando-a com pequeninas manchas ovais do seu desgosto.
- Eu queria - disse a chorar. - E ele também queria. Nunca disse e eu também não, mas sabíamos os dois. Bastou que ele olhasse para mim uma vez antes de o termos feito e soube que tudo tinha mudado entre nós. Lia-lhe tudo no rosto... o que significava para ele e assim... e disse-lhe: "Não use nada." E ele sorriu, o que significava que sabia aquilo em que eu estava a pensar e que estava bem. Por fim tornaria as coisas mais fáceis. Seria então mais lógico que casássemos.
Deborah olhou para China que mostrou em surdina a sua reacção: Uau!
- Estavas noiva do senhor Brouard? - perguntou Deborah a Cynthia.
- Deveria estar - respondeu. - E agora... Guy, oh Guy. - Chorava sem qualquer espécie de embaraço, como se fosse uma menina pequena. Não tenho nada. Se houvesse um bebê, teria ficado com alguma coisa. Mas agora ele está verdadeiramente, realmente morto e eu não posso suportá-lo e odeio-o. Odeio-o. Odeio-o. "Pronto", diz ele. "Vai tratar da tua vida. Estás livre como dantes", e age como se eu não tivesse rezado para que isso acontecesse, como se não soubesse que eu fugiria, que eu me esconderia até ter tido o bebê e ser demasiado tarde para ele fazer alguma coisa para o impedir. E fala de que isso teria arruinado a minha vida, quando a minha vida já está arruinada. E ele está contente. Está contente. Está contente. - Abraçou-se de novo ao poço, chorando encostada à borda granulosa.
Deborah pensou que tinham obtido a resposta à pergunta. Dificilmente haveria dúvidas a respeito da relação de Cynthia Moullin e Guy Brouard. E aquele que ela odiava tinha de ser o pai. Deborah não imaginava que outra pessoa poderia ter as preocupações que ela atribuía ao ele que ela tanto desprezava.
- Cynthia, queres que te ajudemos a entrar em casa? - perguntou. Aqui está frio e só tens essa camisola de algodão...
- Não! Nunca mais volto lá para dentro! vou ficar aqui até morrer. Quero morrer.
- Não creio que o teu pai deixe que isso aconteça.
- Quer tanto como eu - disse ela. - "Entrega-me a roda" - disse-me. - "Não mereces a sua protecção", como se isso me magoasse. Como se eu devesse perceber o seu significado. Que me estava a dizer, "Não és minha filha", e eu deveria ouvir aquilo sem que ele o dissesse. Mas a mim não me importa. Não me importa mesmo nada.
Deborah olhou para China um pouco confusa. China encolheu os ombros mostrando que também não entendia nada. E não havia dúvidas de que eram águas demasiado revoltas e precisariam de uma espécie de bóia de salvação.
- De qualquer forma já a tinha dado ao Guy - disse Cynthia. Meses atrás. Disse-lhe que andasse sempre com ela. Bem sei que foi estúpido. Que não passava de uma pedra estúpida. Mas disse-lhe que o protegeria e esperava que ele acreditasse... porque eu disse-lhe... disse-lhe. - Começou de novo a soluçar. - Mas não protegeu, pois não? Afinal era apenas uma pedra estúpida.
A jovem era uma fascinante mistura de inocência, sensualidade, ingenuidade e vulnerabilidade. Deborah percebia a atracção que exercera sobre um homem que poderia ter querido educá-la nas coisas mundanas e protegê-la simultaneamente, iniciando-a nalgumas das suas delícias. Cynthia Moullin permitiria que Guy Brouard representasse todos esses papéis, tentação a que dificilmente um homem que necessitava sempre de manter uma aura de superioridade poderia resistir. Deborah podia rever-se na jovem que tinha junto de si: a pessoa que poderia ter vindo a ser se não tivesse ido passar três anos para a América.
Foi essa sensação que a levou a ajoelhar-se junto da jovem e a pôr-lhe suavemente a mão na nuca.
- Cynthia - disse -, lamento muito aquilo por que estás a passar. Mas, por favor, deixa que te levemos para dentro de casa. Agora queres morrer mas nem sempre vai ser assim. Acredita que eu sei como é.
- E eu também - disse China. - Podes crer, Cynthia. Ela está a dizer-te a verdade.
A cumplicidade feminina implícita naquelas declarações pareceu convencer a jovem. Permitiu que a ajudassem a pôr-se de pé e depois limpou os olhos às mangas da camisola e disse com ar patético:
- Tenho de me assoar.
- Deves ter lenços em casa - disse Deborah.
Foi assim que a levaram do poço até à porta. Aí ela parou e Deborah receou que a jovem não quisesse entrar mas, quando Deborah chamou para ver se estava alguém em casa e não houve resposta, Cynthia decidiu entrar. Serviu-se de um pano da loiça como tabuleiro. Depois passou à sala e sentou-se num cadeirão encostando a cabeça ao braço e puxando para cima de si uma manta de tricô que cobria as costas da cadeira.
- Ele disse que eu teria de fazer um aborto - disse ela em voz átona. - Disse que eu ficaria fechada até ele ter a certeza de que eu precisava de o fazer. Não me ia deixar fugir para ter o bastardo daquele sacana, disse. Disse-lhe que não ia ser um bastardo porque nos íamos casar antes de o bebê nascer e ele ficou furioso. "Ficas aqui até eu ver o sangue", disse. "Quanto ao Brouard, logo trato das coisas com ele."
O olhar de Cynthia estava fixo na parede em frente da cadeira onde estava pendurada uma colecção de fotografias de família. No centro encontrava-se uma grande de um homem sentado - provavelmente o pai - rodeado por três meninas. Ele tinha uma expressão honesta e bem-intencionada, elas pareciam sérias e a precisar de se divertirem.
- Ele não percebeu o que eu queria. Não lhe importava. E agora nada resta. Se ao menos eu tivesse um bebê...
- Acredita que compreendo - disse Deborah.
- Estávamos apaixonados, mas ele não entendia. Disse-me que ele me tinha seduzido mas não foi isso que aconteceu.
- Não - disse Deborah. - Não é assim que acontece, pois não?
- Não é. Não foi. - Cynthia agarrou no cobertor com força e puxou-o até ao queixo. - Vi logo no princípio que ele gostava de mim e eu gostei dele. E ele via-me. Eu não estava numa sala, como se fosse uma cadeira ou qualquer outra coisa. Eu era real. Foi ele que mo disse. E o resto aconteceu com o tempo. Mas não houve uma única coisa para que eu não estivesse preparada. Não houve uma única coisa que eu não quisesse que acontecesse. Depois o meu pai descobriu. Não sei como. Estragou tudo. Sujou as coisas e tornou-as feias. Parecia que o Guy fazia aquilo para se divertir. Como se tivesse apostado que seria o meu primeiro homem e precisasse dos lençóis da cama para o provar.
- Os pais costumam ser muito protectores - disse Deborah. - Provavelmente ele não tencionava...
- Tencionava pois. E afinal o Guy era assim.
- Levou-te para a cama por causa de uma aposta? - China trocou com Deborah um olhar imperscrutável.
China apressou-se a corrigi-la.
- Ele queria mostrar-me como poderia ser. Sabia que eu nunca... eu tinha-lhe dito. Ele disse-me que era muito importante que a primeira vez para uma mulher fosse... fulgurante... disse ele. Fulgurante. E foi assim. Sempre. Todas as vezes.
- Sentias-te ligada a ele - disse Deborah.
- Queria que ele vivesse para sempre comigo. Não me importava que fosse mais velho. Que diferença faria? Não seríamos apenas dois corpos a ter relações numa cama. Éramos duas almas que se tinham encontrado e que queriam ficar juntas apesar de tudo. E teria sido assim se ele não tivesse... se ele não tivesse... - Cynthia voltou a deitar a cabeça no braço da cadeira e começou a chorar. - Quero morrer também.
Deborah foi ter com ela.
- Lamento - disse acariciando-lhe a cabeça. - Perdeste-o e também não tiveste um filho dele... deves sentir-te arrasada.
- Sinto-me destruída - soluçou.
China deixou-se ficar onde estava, a alguns metros de distância. Cruzou os braços como se se quisesse proteger do assalto da emoção de Cynthia. - Provavelmente não te vai consolar saberes que ultrapassarás tudo isto - disse. - Que um dia, no futuro, te hás-de sentir melhor. Que será completamente diferente.
- Não quero.
- Pois não. Nunca queremos. Amamos loucamente e parece que, se perdermos esse amor, murcharemos e morreremos o que será uma bênção. Mas não há homem nenhum, por melhor que seja, que mereça a nossa morte. E, de qualquer forma, as coisas não acontecem assim na realidade. Vegetamos, mas acabamos por ultrapassar as coisas. E depois ficamos de novo inteiras.
- Não quero ficar inteira!
- Por enquanto não - disse Deborah. - Por enquanto queres fazer o teu luto. A força desse luto marca a força do teu amor. E deixá-lo partir quando chegar a devida altura vem fazer as honras a esse amor.
- Sim? - A voz da jovem mais parecia a de uma criança e parecia tão infantil que Deborah deu por si a querer protegê-la. Compreendeu imediatamente como se deveria ter sentido o pai dela ao saber que Guy a havia tomado para si.
- É nisso que acredito - disse Deborah.
Deixaram Cynthia Moullin com aquele último pensamento, enrolada debaixo do seu cobertor com a cabeça apoiada num braço. O choro tinha-a deixado exausta mas calma. Disse-lhes que agora iria dormir e talvez conseguisse sonhar com Guy.
Lá fora, enquanto se dirigiam ao carro pelo caminho coberto de conchas, China e Deborah nada disseram a princípio. Fizeram uma pausa e observaram o jardim que parecia ter sido pisado por um gigante.
- Mas que confusão - afirmou China simplesmente.
Deborah olhou para ela. Sabia que a amiga não falava do estado dos ornamentos do relvado e dos canteiros.
- Por vezes plantamos campos de minas nas nossas vidas - comentou.
- São mais bombas nucleares, se queres saber. Ele tinha para aí setenta anos. E ela... tem o quê? Dezassete? Deveria ser considerado abuso sexual de menores. Mas não. com esta ele teve cuidado. - Passou a mão pelo cabelo curto, num gesto rude, abrupto o que a tomava muito parecida com o irmão. - Os homens são uns porcos - afirmou. - Se existir um que seja decente gostaria de o conhecer só para lhe apertar a mão. Só para o cumprimentar. Porque me agradaria saber que não são todos obcecados por sexo. Toda essa treta de "és o amor da minha vida". Por que diabo será que as mulheres continuam a engolir isso? - Olhou para Deborah e antes de esta poder responder, continuou: - Oh. Esquece. Esqueço-me sempre que tu nunca foste enganada por um homem.
- China, isso...
China fez um gesto com a mão.
- Desculpa. Desculpa. Não devia... Só que ao vê-la... ao ouvi-la... Não importa. - Apressou-se a seguir para o carro.
Deborah foi atrás dela.
- Todos nós temos de suportar certas dores. É o resultado de estarmos vivos.
- Não é preciso ser assim. - China abriu a porta do carro e deixou-se cair no assento. - As mulheres não precisam de ser tão estúpidas.
- Fomos criadas para acreditar em contos de fadas - disse Deborah. - Um homem atormentado salvo pelo amor de uma boa mulher? Desde o berço que nos alimentam com essa idéia.
- Mas neste cenário não me parece existir um homem atormentado. - China apontou para a casa. - Então porque foi que ela se apaixonou? Sim, ele era encantador, tinha bom aspecto. Estava em boa forma, por isso não parecia ter setenta anos. Mas ser convencida a aceitá-lo... isto é... como sendo o primeiro... ora bolas, ele podia ser avô dela. Se calhar até bisavô.
- Mesmo assim, parece que ela o amava.
- Aposto que a conta bancária dele também tinha a ver com o assunto. Uma bela casa, uma bela propriedade, um belo carro, um belo tudo. A promessa de ser a senhora da casa. Belas férias em qualquer parte do mundo ao seu dispor. Roupas. E diamantes? São teus. Cinqüenta mil pares de sapatos? É para já. Queres um Ferrari? Qual é o problema? Aposto que isso transformou o Guy Brouard no homem mais sexy do mundo aos olhos dela. Qualquer rapariga de um sítio destes não poderia deixar de lhe cair nos braços. Claro que as mulheres sempre se sentiram atraídas pelos homens atormentados. Mas se há dinheiro a recolher, metem-se num instante por baixo deles.
Deborah sentiu o coração a bater ao ouvir aquilo.
- Acreditas no que estás a dizer, China?
- Podes ter a certeza de que acredito. E os homens sabem que é assim. É só mostrar o dinheiro e esperar para ver o que acontece. Atrai-as como papel de moscas. Para a maioria das mulheres, o dinheiro significa mais do que a força que ele ainda tem nas pernas. Se ele respirar e for podre de rico, basta. Vamos assinar o contrato. Mas primeiro dizemos que é amor. Dizemos que estamos a morrer de felicidade. Afirmamos que quando estamos juntos os pássaros cantam aos nossos ouvidos, a terra começa a tremer e as estações mudam. Mas se rasparmos tudo isso, chegamos ao dinheiro. Somos capazes de amar um homem com mau hálito, uma perna só e sem pila, desde que nos possa manter como gostaríamos.
Deborah não respondeu. As declarações de China poderiam ser aplicadas de muitas maneiras à sua pessoa, não só no que dizia respeito à sua relação com Tommy logo a seguir à sua partida de Londres para a Califórnia de coração partido, como também ao seu casamento cerca de dezoito meses depois de ter terminado o seu romance com ele. À superfície tudo se parecia com o que China descrevia: a considerável fortuna de Tommy agira inicialmente como isco; mesmo assim, a riqueza muito menor de Simon servia-lhe para lhe permitir liberdades que a maioria das mulheres da sua idade não tinha. O facto de nada daquilo ser o que parecia... do dinheiro e a segurança que oferecia parecer por vezes uma teia tecida em seu redor para a manter presa... para a impedir de ser uma verdadeira mulher... sem poder contribuir para a sociedade... Como poderia isso ter importância quando tinha tido a sorte imensa de namorar com um homem rico e de ter casado depois com um homem capaz de a manter?
Deborah engoliu tudo aquilo. Sabia que a sua vida fora construída por si. Que China pouco conhecia dela.
- Sim - disse. - Está bem. O verdadeiro amor de uma mulher é o sustento de outra. Vamos voltar para a cidade. A estas horas já o Simon falou com a polícia.
Capítulo 24
A VANTAGEM DE TER COMO AMIGO ÍNTIMO O SUPERINTENDENTE INTERINO do Departamento de Investigação Criminal era ter-lhe acesso imediato. St. James só teve de esperar uns instantes antes que a voz de Tommy surgisse do outro lado da linha dizendo-lhe num tom divertido:
- Afinal a Deb conseguiu levar-te para Guemsey, não? Já sabia.
- Ela não queria que eu viesse - replicou St. James. - Mas lá a convenci de que brincar a ser Miss Marple em St. Peter Fort não seria nos melhores interesses de ninguém.
Lynley soltou uma gargalhada.
- E como vai isso?
- Vai para a frente mas não tão bem como eu gostaria. - St. James pôs o amigo ao facto da investigação independente que ele e Deborah tentavam efectuar, ao mesmo tempo que evitavam imiscuir-se na da polícia local. - Não sei durante quanto tempo poderei continuar a servir-me só da minha reputação - concluiu.
- Foi por isso que telefonaste? - perguntou Lynley. - Falei com o Lê Gallez quando a Deborah veio aqui à Yard. Ele foi perfeitamente claro. Não quer a polícia de Londres metida no assunto.
- Não é isso - apressou-se St. James a tranqüilizá-lo. - É só um ou dois telefonemas que me podias fazer.
- Que espécie de telefonemas? - Lynley parecia cauteloso.
St. James explicou. Depois Lynley disse-lhe que o Departamento de Inspecção de Finanças era o órgão que no Reino Unido deveria envolver-se em questões bancárias inglesas. Faria os possíveis para conseguir a informação do banco que recebera as transferências de Guernsey mas poderia ser necessária uma ordem do tribunal, o que levaria mais tempo.
- Tudo isto pode ser perfeitamente legal - disse-lhe St. James. Sabemos que o dinheiro foi para um grupo chamado International Access em Bracknell. Podes lá chegar a partir daí?
- Pode ser. vou ver o que consigo fazer.
Concluído o telefonema, St. James desceu até ao átrio do hotel, onde admitiu para consigo próprio que precisava urgentemente de um telemóvel enquanto tentava impressionar a recepcionista da importância das chamadas que lhe pudessem chegar de Londres. Ela anotou o que ele lhe pedia e afirmou, sem muita convicção, que lhe passaria imediatamente as mensagens. Neste momento Deborah e China regressaram da sua ida a Lê Grand Havre.
Sentaram-se os três no salão, encomendaram o café e fizeram um ponto da situação. St. James viu que Deborah fizera várias deduções infundadas a partir daquilo que tinham sabido. Por seu lado, China não tentou usar os factos para o influenciar e St. James admirou-a por isso. Não tinha a certeza de ser tão circunspecto se estivesse na posição dela.
- A Cynthia Moullin falou de uma pedra - concluiu Deborah. Disse que a tinha dado ao Guy Brouard. Para o proteger. E o pai queria que ela a devolvesse. Isto fez-me pensar se teria sido a mesma pedra usada para o sufocar. O pai dela tem um motivo bem patente. Teve mesmo a filha fechada até saber que o período lhe tinha aparecido, para ter a certeza de que o Guy Brouard não a engravidara.
St. James acenou afirmativamente.
- A idéia de Lê Gallez é que alguém tencionava usar o anel das tíbias e da caveira para sufocar o Brouard, mas mudou de idéias quando viu que ele trazia aquela pedra.
- E esse alguém seria o Cherokee? - China nem esperou pela resposta. - Não vejo porquê tal como não vejo por que razão me acusaram. Mas não precisam de um móbil, Simon?
- Claro que sim. - Queria acrescentar o resto que sabia: que a polícia tinha encontrado uma coisa tão boa como um móbil, mas não desejava partilhar aquela informação com pessoa alguma. Não por suspeitar que tivesse sido China River ou o irmão a cometer o crime. Era mais por suspeitar de toda a gente e, por precaução, não mostrava o jogo.
Antes de poder continuar - escolhendo entre a contemporização e a prevaricação - Deborah falou.
- O Cherokee não poderia saber que o Guy Brouard tinha a pedra.
- A menos que o tivesse visto com ela - disse St. James.
- Como? - argumentou Deborah. - A Cynthia disse que o Brouard andava com ela. Não parece mais lógico que a trouxesse no bolso e não na palma da mão?
- Talvez sim - concordou St. James.
- Mas o Henry Moullin sabia que ele a tinha. Segundo a filha, ele pediu-lhe explicitamente que lha entregasse. Se ela lhe disse que a tinha oferecido como amuleto, ou para proteger do mau-olhado ou de qualquer outra coisa o homem contra quem o pai tinha uma séria contenda, porque não iria este ter com ele para pedir que lha restituísse?
- Não há nada que diga que ele não o tivesse feito - declarou St. James. - Mas até o sabermos...
- Acusamos o Cherokee - declarou China. Olhou para Deborah como que para lhe dizer Que te dizia eu?
St. James não gostou daquele olhar.
- Vamos observar todas as hipóteses, está bem?
- Não foi o meu irmão - insistiu China. - Olhe: temos a Anais Abbott com um bom motivo. Também temos o Henry Moullin. E o Stephen Abbott, se é que estava interessado em apanhar a Cynthia ou se quisesse separar a mãe do Brouard. Então, onde é que entra o Cheroket -. Em lado nenhum. Porque não foi ele. Não conhecia estas pessoas tal como eu também não as conhecia.
- Não podes deixar de lado aquilo que parece implicar o Henry Moullin - acrescentou Deborah. - Sobretudo quando não há nada que faça pensar que o Cherokee possa estar envolvido na morte do Guy Brouard. - Porém pareceu ler qualquer coisa no semblante de St. James enquanto fazia este último comentário porque disse ainda: - A menos que haja alguma coisa. E deve haver, porque senão não o teriam detido. Claro que há. Mas em que estou eu a pensar? Foste à polícia. Que foi que te disseram? É alguma coisa acerca do anel?
St. James olhou para China, que se inclinava para ela para o escutar atentamente, e depois para a mulher. Abanou a cabeça.
- Deborah. - E concluiu com um suspiro como se pedisse desculpa. - Lamento, meu amor.
Deborah abriu muito os olhos ao aperceber-se do que o marido estava a querer dizer ou fazer. Afastou os olhos dele e St. James viu que ela fechava os punhos no colo como se pudesse conter a raiva com aquele gesto. China também se apercebera porque se levantou apesar de ainda não ter acabado de beber o café. - vou ver se me deixam falar com o meu irmão - disse. - Ou se consigo encontrar o Holberry para lhe levar um recado. Ou... - Hesitou e olhou para a porta do salão por onde entravam duas mulheres carregadas com sacos do Marks & Spencer para fazer um intervalo nas suas compras da manhã. Ao vê-las instalarem-se e ao escutar a conversa, China tomou um ar sombrio.
- Encontramo-nos mais tarde - disse a Deborah. - Está bem? Fez um aceno na direcção de St. James e agarrou no casaco. Deborah chamou por ela, mas China não se voltou e saiu.
- Isto seria necessário? - perguntou voltando-se para o marido. - Foi o mesmo que se lhe tivesses chamado assassino. E pensas que ela também está metida nisto, não é verdade? É por isso que não queres dizer o que sabes em frente dela. Pensas que foram eles. Os dois juntos. Ou um deles. É isso que pensas, não é verdade?
- Não sabemos se não foram - replicou St. James, embora não fosse aquilo que quisesse dizer a Deborah. Em vez de responder sabia que estava a reagir ao tom de acusação que havia na voz da mulher. E sabia que aquela reacção surgia da sua irritação e seria um primeiro passo para discutir com ela.
- Como podes dizer uma coisa dessas? - perguntou Deborah.
- Deborah, como é que tu podes não o dizer?
- Porque acabei de te dizer aquilo que tinha descoberto e nada disso tem a ver com o Cherokee. Ou com a China.
- Não - concordou ele. - Nada do que descobriste tem a ver com eles.
- Mas o que tu sabes tem. É isso que estás a dizer. E como um bom detective vais guardá-lo para ti. Muito bem. Até podia ir para casa. Podia deixar-te...
- Deborah.
- a tratar de tudo, já que estás tão decidido a fazê-lo. - Tal como China, começou a vestir o casaco. No entanto não conseguiu vesti-lo suficientemente bem para fazer a saída dramática que desejava.
- Deborah, senta-te e escuta.
- Não me fales assim. Não sou uma criança.
- Então não ajas... - Deteve-se e ergueu as mãos em direcção a ela num gesto que queria dizer, "Vamos parar por aqui." Fez um esforço para ficar calmo e para falar num tom razoável. - Aquilo em que eu acredito não importa
- Então tu...
- E... - ele interrompeu-a, decidido - aquilo que tu acreditas também não é importante. A única coisa importante são os factos. Os sentimentos não se podem imiscuir numa situação destas.
- Valha-me Deus, já tomaste a tua decisão, não é verdade? Baseada em quê?
- Ainda não tomei qualquer decisão. Nem posso fazê-lo, e mesmo que pudesse, ninguém pede que a tome.
- E então?
- As coisas estão feias. É isso.
- Mas o que sabes? O que é que eles têm? - Como ele não respondeu imediatamente ela disse: - Deus do céu, não confias em mim? Que pensas tu que eu vou fazer com essa informação?
- O que farias se implicasse o irmão da tua amiga?
- Mas que pergunta é essa? Que pensas que eu faria? Que lhe diria?
- O anel... - St. James detestava ter de o dizer. - Afinal ele reconheceu-o logo mas não disse nada. Como explicas isso, Deborah?
- Não tenho de ser eu a explicar. Tem de ser ele e fá-lo-á.
- Acreditas assim tanto nele?
- Não é um assassino.
Mas os factos sugeriam o contrário, embora St. James não pudesse arriscar-se a contar o que sabia. Um frasco com Eschscholzia californica, encontrado num campo, cheio de impressões digitais. E tudo o que se passara em Orange County, na Califórnia.
Reflectiu durante uns instantes. Tudo apontava para River. Mas havia um pormenor que não apontava: os movimentos de dinheiro de Guernsey para Londres.
Margaret estava junto da janela e soltava uma exclamação aguda de cada vez que um pássaro voava junto da casa. Fizera mais dois telefonemas para a polícia, exigindo saber quando poderiam esperar que fizessem alguma coisa em relação àquele miserável "ladrãozeco" e esperava ansiosamente a chegada de alguém que escutasse a sua história e agisse de modo apropriado. Quanto a Ruth, concentrava-se no seu bordado.
Porém Margaret era para ela uma profunda distracção. Enquanto esperava dizia coisas como "Daqui a uma hora estarás a protestar a inocência dele", e vou mostrar-te o que é a inocência e a honestidade."
Ruth nem sabia aquilo de que estavam à espera pois a cunhada apenas lhe dissera: "Vão tratar imediatamente do assunto", depois de ter telefonado à polícia pela primeira vez.
À medida que o imediatamente se estendia, Margaret ficava mais agitada. Ia fazer outro telefonema para as autoridades para lhes exigir que entrassem em acção quando um Panda apareceu diante da casa. - Apanharam-no!
Apressou-se a chegar à porta e Ruth fez os possíveis para a acompanhar, levantando-se com dificuldade da cadeira e coxeando atrás de Margaret. A cunhada saiu a toda a pressa, dirigindo-se à porta detrás do Bcarro que estava a ser aberta por dois polícias de uniforme. Meteu-se entre os agentes e o ocupante. Quando Ruth conseguiu por fim chegar junto dela, Margaret estava a agarrar Paul pela gola e começava a puxá-lo para fora do carro.
- Pensavas que conseguias, não? - perguntou, - Minha senhora - disse o agente. - Dá-me a mochila, gatuno!
Paul estrebuchou para se livrar dela e apertou a mochila contra o peito. Deu-lhe um pontapé nos tornozelos.
- Ele está a tentar fugir - gritou ela. - Façam alguma coisa - disse para os polícias. - Tirem-lhe a mochila. Ele tem lá aquilo. O segundo agente deu a volta ao carro, - A senhora está a interferir...
- Não seria preciso interferir se vocês soubessem fazer o vosso trabalho!
- Afaste-se, minha senhora - disse o primeiro agente. - Margaret, só estás a assustar o miúdo - disse Ruth. - Paul, querido, vamos para dentro de casa. Os senhores agentes não se importam de o ajudar, por favor?
Margaret libertou o rapaz com relutância e Paul correu na direcção de Ruth. Estendeu os braços e o seu significado era claro. Só ela poderia receber a mochila. Ruth fez entrar o rapaz e os agentes em casa, com a mochila numa mão e dando o braço a Paul num gesto reconfortante. O rapaz tremia como varas verdes e ela queria dizer-lhe que não tinha nada a temer. A idéia de que o rapaz pudesse ter roubado alguma coisa em Lê Reposoir era simplesmente ridícula.
Lamentava a ansiedade que lhe estava a causar e sabia que a presença da cunhada apenas serviria para a agravar. Sabia que não poderia ter impedido Margaret de telefonar para a polícia. Mas, a menos que a fechasse no sótão ou cortasse as linhas telefônicas, nada podia fazer.
Porém, agora que o mal estava feito, sabia que pelo menos era capaz de impedir que Margaret assistisse ao que sem dúvida seria uma entrevista aterradora para o pobre rapaz. Por isso, quando já se encontravam no átrio de pedra, Ruth disse:
- Paul, senhores agentes, venham por aqui, por favor. Entrem para a saleta. - E quando viu o olhar de Paul fixo na mochila deu-lhe umas pancadinhas e disse em tom amigável. - Já a levo. Vai com eles, querido, que ninguém te faz mal.
Depois de os agentes terem levado Paul para a saleta e fechado a porta, Ruth voltou-se para a cunhada.
- Deixei-te fazer o que querias, Margaret. Agora trato eu do assunto. Margaret não era estúpida. Compreendeu que os seus planos para enfrentar o rapaz que roubara o dinheiro que deveria pertencer ao filho tinham ido por água abaixo.
- Abre a mochila e vê se é verdade ou não.
- vou fazer isso na presença da polícia - disse Ruth. - Se ele levou alguma coisa...
- Vais arranjar desculpas para ele - disse Margaret em tom irritado. - Claro. Arranjas desculpas para toda a gente. Não sabes fazer outra coisa, Ruth.
- Falamos depois. Se houver mais alguma coisa a dizer.
- Não me vais afastar disto. Não podes.
- É verdade. Mas a polícia pode. E vai fazê-lo.
Margaret endireitou as costas. Ruth percebeu que a tinha derrotado, mas que, mesmo assim, ela procurava um comentário final que pudesse ilustrar tudo o que tinha sofrido e continuava a sofrer nas mãos dos desprezíveis Brouard. Porém, como não encontrou as palavras apropriadas, voltou-se abruptamente. Ruth esperou até ouvir nas escadas os passos da cunhada.
Quando se reuniu com os dois agentes e com Paul na saleta, lançou ao rapaz um sorriso de ternura.
- Senta-te, querido. Por favor - disse aos agentes, indicando-lhes duas cadeiras e o sofá. Paul escolheu o sofá e ela sentou-se junto dele. Bateu-lhe ao de leve na mão e murmurou: - Peço imensa desculpa. Receio que a minha cunhada esteja demasiado perturbada.
- Minha senhora, este rapaz foi acusado de roubar...
Ruth ergueu a mão para deter o agente.
- Suponho que seja uma invenção da imaginação febril da minha cunhada. Se falta alguma coisa não dei por isso. Confiaria a minha casa
E a este rapaz em qualquer altura e com todos os meus haveres. - E para provar esta afirmação devolveu a Paul a mochila por abrir. – Lamento muito o incômodo que dei a todos. A Margaret ficou muito perturbada pela morte do meu irmão. Não tem agido racionalmente.
Pensou que aquilo pusesse fim a tudo, mas enganava-se. Paul empurrou a mochila na direcção dela e quando ela disse, "Mas porquê, Paul? Não compreendo", ele abriu os fechos e tirou lá de dentro um objecto cilíndrico que rolava sobre si mesmo.
Ruth olhou-o perplexa. Os dois agentes puseram-se de pé. Paul meteu o rolo nas mãos de Ruth e quando viu que ela não sabia o que fazer com ele desenrolou-o e abriu-lho sobre os joelhos.
Ela olhou-o.
- Valha-me Deus! - exclamou, compreendendo por fim.
A visão turvou-se-lhe e naquele instante e perdoou tudo ao irmão:
os segredos que guardara e as mentiras que lhe dissera. O uso que fizera
E das outras pessoas. A necessidade de ser viril. A compulsão para seduzir. Era de novo a menina cuja mão ele, seu irmão mais velho, apertara.
N'aie pás peur, dissera. N'aie jamais peur. On rentrera a Ia maison.
E Um dos polícias falava e Ruth ouvia a sua voz ao longe. Afastou mil recordações do seu espírito.
- O Paul não roubou isto - conseguiu dizer. - Guardava-o para mim.
Queria dar-mo. Penso que o iria guardar até ao meu aniversário. O Guy
deve ter querido que ele o guardasse em segurança. Sabia que Paul o faria.
Acho que foi isso que aconteceu.
Não podia dizer mais nada. Sentia-se vencida pela emoção, perturbada pelo gesto do irmão e pelos problemas que tivera de enfrentar para a honrar a ela, à família e à sua herança.
- Dêmos-lhes muito trabalho - murmurou para os agentes. – Peço muitas desculpas.
Foi o suficiente para que eles se retirassem.
Deixou-se ficar no sofá ao lado de Paul que se encostou a ela. O rapaz apontou para o edifício que o pintor representara, para os homenzinhos que trabalhavam nele, para a mulher etérea sentada em primeiro plano com os olhos postos no enorme livro que tinha no colo. Rodeavam-na os folhos do vestido azul que envergava. Tinha o cabelo puxado para trás como que tocado pela brisa. Era tão bela como quando Ruth a vira pela última vez, sessenta anos atrás: sem idade, imaculada, imóvel no tempo.
Ruth procurou a mão de Paul e segurou-a na sua. Tremia e não conseguia falar. Mas podia agir e foi o que fez. Levou a mão dele aos seus lábios e depois pôs-se de pé.
Fez-lhe sinal para que a acompanhasse. Levou-o lá a cima para que ele pudesse ver por si e compreendesse perfeitamente a natureza do presente extraordinário que acabara de lhe entregar.
Valerie encontrou o recado quando voltou de La Corbiére. Três palavras escritas pela mão disciplinada de Kevin: Recital da Cherie. O facto de ele não ter escrito mais nada, mostrava o seu desagrado.
Sentiu uma punhalada no peito. Esquecera o concerto de Natal da escola da menina. Tencionava acompanhar o marido para aplaudir os esforços vocais da sobrinha de seis anos, mas a preocupação em avaliar a sua responsabilidade na morte de Guy Brouard tinha-a feito esquecer tudo o resto. Kevin deveria até ter-lhe recordado a festa ao pequeno-almoço, mas certamente nem o ouvira. Já estava a planear o seu dia: como e quando se escaparia até à Casa das Conchas sem que dessem pela sua falta e o que diria a Henry quando lá chegasse.
Quando Kevin chegou a casa, ela estava a fazer uma canja de galinha, retirando a gordura do caldo a ferver. Tinha sobre a bancada uma nova receita da sopa que recortara de uma revista, na esperança de que Ruth se sentisse tentada a comer.
Kevin chegou à porta e ficou a olhar para ela, com a gravata desapertada e o colete desabotoado. Valerie viu que ele se tinha vestido bem de mais para uma festa de Natal de crianças e sentiu outra punhalada. Estava fantástico; deveria ter ido com ele.
Kevin olhou para o recado que deixara na porta do frigorífico.
- Desculpa - disse Valerie. - Esqueci-me. A Cherie cantou bem? Ele acenou afirmativamente. Tirou a gravata e enrolou-a na mão,
poisando-a depois sobre a mesa ao lado de uma tigela de nozes por descascar. Puxou uma cadeira e sentou-se.
- A Mary Beth está boa? - perguntou Valerie.
- Tão bem como seria de esperar no primeiro Natal sem ele.
- Também é o teu primeiro Natal sem ele.
- Para mim é diferente.
- Acho que sim. Mas ainda bem que as meninas te têm.
Fez-se silêncio entre eles. A canja de galinha borbulhava. Ouviram-se pneus a ranger na gravilha a pouca distância da janela da cozinha. Valerie olhou para fora e viu um carro da polícia a sair da propriedade. Franziu a testa, voltou para a panela da canja e juntou aipo cortado. Acrescentou uma mão-cheia de sal e esperou que o marido falasse.
- O carro não estava aqui quando precisei dele para ir à cidade disse. - Tive de ir no Mercedes do Guy.
- Deves ter ficado mesmo bem dentro dele. Ias todo elegante. A Mary Beth gostou de andar nele?
- Fui sozinho. Já era muito tarde para a ir buscar. Não cheguei a tempo do concerto. Estive à tua espera. Pensei que de certeza terias ido a algum lado. Talvez à farmácia ou assim.
Ela passou outra vez a colher pela superfície do caldo para retirar a gordura que não existia. Ruth não comeria a sopa se tivesse demasiada gordura. Veria as ovais e empurraria a tigela para o lado. Por isso, Valerie tinha de se manter vigilante. Tinha de prestar toda a sua atenção à canja de galinha.
- A Cherie sentiu a tua falta - insistiu Kevin. - Devias ter ido.
- Mas a Mary Beth não perguntou por mim, pois não? Kevin não respondeu.
- Então... - disse Valerie o mais agradavelmente possível. - As janelas dela já estão calafetadas, Kev? Já não há goteiras na casa dela?
- Onde estiveste?
Ela foi ao frigorífico e olhou lá para dentro a pensar no que lhe poderia responder. Fingiu verificar o conteúdo mas os seus pensamentos voavam como mosquitos em redor da fruta demasiado madura.
Keviii levantou-se, arrastando a cadeira. Aproximou-se do frigorífico e fechou a porta. Valerie voltou para o fogão e ele foi atrás dela. Quando ela pegou na colher para ver o caldo, Kevin tirou-lha da mão e colocou-a cuidadosamente sobre o suporte.
- Temos de falar.
- De quê?
- Acho que sabes.
Ela não admitiria nada. Não podia dar-se a esse luxo. Resolveu Desviar a conversa noutra direcção. Fê-lo sabendo do risco terrível que corria, o risco de a colocar na mesma situação infeliz da mãe: a maldição do abandono parecia perseguir a família. Vivera a infância e a juventude à sombra desse abandono e fizera tudo o que lhe fora possível para se assegurar que nunca veria o cônjuge partir. Acontecera com a mãe. Acontecera com o irmão. Mas jurara a si própria que nunca haveria de acontecer com ela. Acreditava que, quando se trabalha, se luta e se fazem sacrifícios por amor, recebe-se em troca a dedicação. Durante anos tivera-o sem sombra de dúvida. Mesmo assim tinha de se arriscar a perdê-la para levar a protecção onde ela era mais necessária. Tomou fôlego e disse:
- Tens saudades dos nossos filhos, não tens? Em parte foi isso que aconteceu. Criámo-los muito bem mas agora têm as suas vidas e tu tens saudades de ser pai. Foi assim que começou. Vi essa saudade nos teus olhos da primeira vez que as meninas da Mary Beth vieram aqui lanchar.
Não olhou para o marido e ele não disse nada. Noutra situação, ela poderia ter interpretado aquele silêncio como sinal de que ele estava de acordo e a conversa terminaria por ali. Mas não poderia correr esse risco porque se essa conversa acabasse podia começar outra. A partir dali havia poucos assuntos de que poderia falar em segurança, por isso escolheu aquele, pensando que por fim haveriam de lá chegar.
- Não é verdade, Kev? - perguntou ela. - Não foi assim que tudo começou? - Apesar de ter escolhido deliberadamente um assunto, apesar de o ter escolhido a sangue-frio para manter escondida para sempre outra verdade mais terrível, recordou-se da mãe e de como as coisas tinham sido para ela: as súplicas, as lágrimas, os "não me deixes que eu faço tudo eu sou tudo, eu até sou como ela se é isso que queres". Prometeu a si própria que se fosse esse o resultado não seguiria os passos da mãe.
- Valerie! - A voz de Kevin pareceu-lhe rouca. - O que foi que nos aconteceu?
- Não sabes?
- Diz-me tu.
Ela olhou-o.
- Ainda somos um casal?
Ele parecia tão perplexo que, por um instante, ela desejou parar ali mesmo, onde tinham chegado, tão perto da borda mas ainda sem lá chegar.
- Mas de que estás tu a falar?
- De escolhas - disse ela. - De fugires de umas e de fazer outras. Foi isso que aconteceu. Tenho estado a ver e a fingir que não vejo nada. Mas existem à mesma e tu tens razão. Temos de falar.
- Vai, tu disseste...
Ela impediu-o de seguir nessa direcção.
- Os homens não vão à procura de outras a menos que haja um vazio nas suas vidas, Kev.
- À procura de outras?
- Um vazio algures naquilo que já têm. Primeiro pensei: muito bem, ele pode servir-lhes de pai, sem ser o pai delas, não é verdade? Pode dar-Lhes o que um pai dá às filhas e eu e o Kev não teremos qualquer problema por isso. Pode preencher o lugar do Corey na vida delas. Pode fazer isso. Tudo bem. - Engoliu em seco e desejou não ter de o dizer, mas sabia que tal como o marido não tinha escolha no assunto. - Quando pensei nisso pensei também: o Kev não precisa de fazer o mesmo pela mulher do Corey.
- Espera aí. Estiveste a pensar que... a Mary Beth e eu?
Parecia atônito. Ela ter-se-ia sentido aliviada se não tivesse que insistir para o fazer esquecer o outro assunto e para que ele só pensasse que ela suspeitava que ele estava apaixonado pela viúva do irmão.
- Não foi assim? - perguntou Valerie. - Não é assim? Quero a verdade, Kev. Acho que tenho direito a ela.
- Todos queremos a verdade - disse Kevin. - Mas não tenho a certeza se a merecemos.
- Num casamento? - perguntou ela. - Diz-me, Kevin. Quero saber o que se passa.
- Nada - disse ele. - Não percebo como pudeste acreditar que se passava tal coisa.
- As meninas. Os telefonemas dela. O facto de ela precisar que fizesses isto ou aquilo. O facto de tu estares sempre a ajudá-la e de sentires a falta dos nossos filhos e de quereres... sei que sentes a falta dos nossos filhos, Kev.
- Claro que sinto. Sou pai deles. Porque não haveria de sentir? Mas isso não significa que... Valerie, o que sinto pela Mary Beth é o que um irmão sente por uma irmã. Nem mais nem menos. Esperava que pelo menos tu tivesses percebido. É então disso que se trata?
- O quê?
- O silêncio. Os segredos. Como se me andasses a esconder alguma coisa. E tens andado a esconder, não é verdade? Falas sempre, mas ultimamente tens andado tão calada. Quando eu perguntei... - Fez um gesto com a mão para logo a deixar cair. - Não disseste. Por isso pensei... Desviou o olhar para a canja de galinha como se se tratasse de uma poção.
- Pensaste o quê? - perguntou ela porque afinal teria de saber e ele teria de falar para que ela o pudesse negar e, ao negá-lo, pôr um ponto final em todo aquele assunto.
- Primeiro - disse ele -, concluí que tinhas contado ao Henry apesar da promessa de ficares calada. Pensei, meu Deus, ela foi contar ao irmão a história da Cyn e pensa que ele deu cabo do Brouard e não me quer dizer porque eu a avisei. Mas depois concluí que era uma coisa pior. Pior para mim, claro.
- O quê?
- Vai, eu sabia como ele era. Tinha a Abbott, mas essa não era para ele. Tinha a Cyn, mas a Cyn não passava de uma miúda. Queria uma mulher, uma mulher de verdade com a sabedoria de uma mulher, uma que lhe fosse tão necessária como ele lhe seria necessário a ela. E tu és esse tipo de mulher, Vai. E ele sabia. Eu vi que ele sabia.
- Então pensaste que o senhor Brouard e eu... - Valerie nem podia acreditar nem que ele tivesse pensado naquilo, nem na sorte que tinha tido. O marido tinha um ar tão triste que ela teve pena. Queria rir-se do ridículo da idéia de Guy Brouard a ter desejado a ela com as mãos ásperas do trabalho, o corpo deformado pela gravidez dos filhos, sem ter passado pelas mãos de um cirurgião plástico. Idiota, queria ela dizer ao marido, ele andava atrás da juventude e da beleza para substituir a sua. - Mas por que diabo pensaste uma coisa dessas, querido? - perguntou por fim.
- Não está na tua natureza teres segredos - respondeu ele. - Se não se tratava do Henry...
- E não - disse ela ao mesmo tempo que sorria para o marido, permitindo que a mentira a vencesse.
- Então que outra coisa poderia ser?
- Mas pensares que eu e o senhor Brouard... Como podes ter imaginado que eu alguma vez me interessasse por ele?
- Não imaginei. Apenas vi. Ele era quem era e tu escondias-me coisas. Ele era rico, como só Deus sabe que nós nunca seremos, e isso poderia ter alguma importância para ti. Enquanto tu... essa é a parte mais fácil.
- Porquê?
Ele estendeu as mãos. Lia-se-lhe no rosto que aquilo que ia dizer era a parte mais lógica da fantasia que tinha vivido.
- Quem não tentaria atirar-se a ti se suspeitasse poder conseguir alguma coisa?
Ela sentiu o corpo invadido por uma onda de ternura: pela pergunta que ele fizera, pela expressão do rosto dele, pelo movimento dos braços. Sentiu a ternura no rosto e nos olhos. Foi ter com ele.
- Só houve um homem na minha vida, Kevin. Poucas mulheres podem dizer o mesmo. Ainda menos têm orgulho em o dizer. Eu posso dizê-lo e posso orgulhar-me. Sempre exististe só tu.
Sentiu os braços dele rodearem-na. Atraiu-a bruscamente e estreitou-a, mas sem desejo. Antes de mais nada queria assegurar-se e ela sabia-o porque desejava o mesmo.
Felizmente não lhe perguntou mais nada.
E por isso ela não lhe disse mais nada.
Margaret abriu a segunda mala sobre a cama e começou a retirar mais roupas da cômoda. Dobrara tudo com cuidado quando chegara, mas agora nem se preocupava como estava a guardar as coisas. Não queria mais nada nem com aquele sítio nem com os Brouard. Ignorava quando teria um vôo para Inglaterra, mas estava disposta a apanhá-lo.
Fizera o que pudera: pelo filho, pela ex-cunhada, por toda a gente. Mas a expulsão de Ruth fora a última gota, ainda pior do que a última conversa que tivera com Adrian.
- Vê lá o que ela pensa - declarara.
Tinha ido ao quarto, à procura dele mas não o encontrara. Por fim, descobrira-o no andar superior da casa, na galeria onde Guy guardava parte das antigüidades que reunira durante tantos anos, juntamente com as obras de arte. O facto de tudo aquilo poder pertencer a Adrian - dever pertencer a Adrian... apesar de as telas não passarem de absurdos modernos - meras pinceladas de tinta mais parecendo coisas cortadas por uma máquina de cozinha - eram provavelmente valiosas, e só de pensar que Guy tinha estruturado os seus últimos anos a tratar de negar ao filho aquilo a que ele deveria ter direito... fazia enraivecer Margaret. Jurara vingança.
Adrian não estava a fazer nada na galeria. Estava simplesmente a ser ele próprio, quase deitado numa cadeira. A sala estava fria e Adrian vestira apenas o seu casaco de cabedal. Tinha as pernas estendidas e as mãos enfiadas nos bolsos. Mais parecia estar a assistir à derrota da sua equipa de futebol, só que os olhos dele não estavam fixos numa televisão, mas sim na prateleira da lareira. Havia ali meia-dúzia de fotografias de família e entre elas uma de Adrian com o pai. Outra de Adrian com as irmãs e outra ainda de Adrian com a tia.
Margaret disse o nome dele e depois:
- Ouviste? Ela julga que não tens direito ao dinheiro dele. Era o que ele pensava, segundo ela. Diz que não acredita nesses direitos. Foi assim que apresentou as coisas, como se eu acreditasse nessa história. Se o teu pai tivesse tido a felicidade de alguém lhe deixar uma enorme herança, achas que ele a teria recusado? Que teria dito: "Valha-me Deus, não quero, muito obrigado. Isso não é para mim. É melhor deixá-la a alguém cuja pureza não seja maculada por dinheiro inesperado"? Não me parece provável. São os dois uns hipócritas. Fez tudo isto para me castigar através de ti e ela está mais contente que uma lagarta numa folha de alface porque pode realizar o plano do irmão. Adrian! Estás a ouvir? Ouviste uma única palavra daquilo que te disse?
Perguntou a si própria se o filho teria descido a um daqueles estados da quinta dimensão que eram tão habituais nele. Enfia-te num período de falsa catatonia, meu menino, e deixa que a mama trata dos pormenores difíceis da tua vida.
Por fim, foi de mais para Margaret: a história dos telefonemas das escolas onde Adrian não fazia nada, com as irmãs da enfermaria a dizerem que "de facto não vemos nada de errado no seu filho, minha senhora"; os psicólogos com as suas expressões de compreensão, informando-a que ela tinha decididamente de tirar o filho debaixo das saias; os maridos que achavam que as suas asas protectoras não eram suficientemente grandes para abrigar um enteado com tantos problemas; os irmãos castigados porque o atormentavam; os professores censurados por não o compreenderem, as discordâncias com os médicos que não eram capazes de o tratar; os animais de estimação dispensados por não lhe agradarem; os pedidos de terceiras e quartas oportunidades aos patrões; as potenciais namoradas importunadas e manipuladas... E tudo isso para a trazer àquele momento em que ela apenas desejava que ele a ouvisse, que dissesse uma única frase de reconhecimento como, "Fizeste o melhor possível, mãe", ou talvez apenas um resmungo, mas não. Seria pedir muito que fizesse um pequeno esforço, que tivesse um pouco de iniciativa, que se preocupasse em ter uma vida verdadeira e não apenas uma extensão da sua porque, santo Deus, uma mãe merecia alguma coisa, não? Não mereceria pelo menos saber que os filhos tinham vontade de sobreviver se ficassem sozinhos?
Mas a maternidade nada lhe garantira acerca do filho mais velho. Vendo isto, Margaret sentiu que a determinação a abandonava.
- Adrian! - gritou e, quando ele não respondeu, deu-lhe uma bofetada e gritou: - Não sou um móvel! Responde imediatamente, Adrian, se não... - Ergueu de novo a mão.
Ele agarrou-a no momento em que ela lhe ia dar uma nova bofetada. Agarrou-a com força e assim a manteve enquanto se levantava. Depois largou-a com força como se fosse lixo e disse:
- Tornaste sempre as coisas piores. Não te quero aqui. Vai para casa.
- Meu Deus - disse ela. - Como te atreves... - Mas nada mais conseguira pronunciar.
- Basta - disse ele e deixara-a na galeria.
Por isso ela dirigira-se ao quarto e retirara as malas de debaixo da cama. Já fizera a primeira e tratava agora da segunda. Iria então para casa. Deixá-lo-ia entregue ao seu destino. Dar-lhe-ia a oportunidade que ele parecia desejar de tratar sozinho da sua vida.
Lá fora soou o ruído de duas portas de carro a baterem e foi à janela. Ouvira a polícia sair uns minutos antes e vira que não tinham levado o miúdo. Esperava que tivessem regressado para o vir buscar, depois de terem arranjado uma razão para prenderem aquele animal. Mas viu lá em baixo um Ford Escort azul-escuro e o condutor e o passageiro a conversarem um de cada lado do capo.
Reconheceu o passageiro da recepção que se seguira ao funeral de Guy: o homem deficiente, com ar de asceta que vira a espreitar junto à lareira. A companheira era uma mulher ruiva. Margaret perguntou a si própria quem seriam e com quem desejariam falar.
Em breve tinha a resposta. Adrian regressava a casa pelo caminho da praia. Como os recém-chegados se voltaram para ele, Margaret apercebeu-se de que provavelmente já o teriam encontrado e que estavam à espera para falar com ele.
Sentiu as antenas no ar. Apesar da resolução que tomara de abandonar o filho ao seu destino, Adrian a falar com desconhecidos enquanto o assassínio do pai não estivesse resolvido significava uma ameaça.
Margaret tinha na mão uma camisa de dormir que ia meter na mala. Atirou-a para cima da cama e apressou-se a sair do quarto.
Ouviu o murmúrio da voz de Ruth no escritório de Guy quando se dirigia às escadas. Fez uma nota mental para enfrentar mais tarde a cunhada por não a ter deixado dar um correctivo naquele aprendiz de delinqüente, enquanto a polícia ali estava. Tinha de tratar agora de uma situação mais urgente.
Uma vez lá fora, viu o homem e a companheira ruiva dirigirem-se ao filho.
- Por favor? - chamou. - Posso ajudá-los nalguma coisa? Sou Margaret Chamberlain.
Viu uma centelha de desprezo no olhar de Adrian. Quase se foi embora e o deixou sozinho. Só Deus sabia como merecia ter de se desembaraçar por si próprio, mas sentiu que não o podia fazer, sem saber o que queriam exactamente aquelas pessoas.
Foi ter com os visitantes e apresentou-se mais uma vez. O homem disse que se chamava Simon Allcourt-St. James e que a companheira era a sua mulher, Deborah; os dois tinham vindo falar com Adrian Brouard. Ao dizer estas palavras, acenou com a cabeça na direcção do filho de Margaret como que a dizer-lhe "sei muito bem que és tu", não fosse ele pensar em escapar-se.
- De que se trata - perguntou educadamente Margaret. - A propósito, sou a mãe de Adrian.
- Tem uns minutos? - perguntou Allcourt-St. James a Adrian como se Margaret não tivesse sido suficientemente clara.
Ela sentiu-se irritada mas tentou manter o tom de voz agradável.
- Lamento, mas não temos tempo para conversar. Tenho de partir para Inglaterra e o Adrian terá de me levar...
- Entrem - convidou Adrian. - Podemos conversar aqui.
- Adrian, meu querido - disse Margaret lançando-lhe um olhar duro como que para lhe telegrafar uma mensagem: "Deixa de ser idiota. Não temos idéia de quem são estas pessoas."
Ele ignorou-a e conduziu-os à porta. Ela pouco mais poderia fazer do que segui-los dizendo, num esforço para mostrar uma frente unida:
- bom, suponho que poderemos dispensar alguns minutos, não é verdade?
Margaret tê-los-ia obrigado a manter a conversa de pé, ali no átrio, onde havia apenas cadeiras duras encostadas às paredes se se quisessem sentar: seria o melhor para abreviar a visita. Contudo, Adrian levou-os para a sala. Aí teve o bom senso de não a mandar sair e ela instalou-se no meio de um sofá para ter a certeza de que eles sentiam a sua presença.
St. James - foi assim que pediu para ser tratado quando ela utilizou o seu apelido composto - não pareceu importar-se de que ela servisse de testemunha do que tinha para dizer a Adrian. Nem a mulher que, sem que para isso tivesse sido convidada, se sentou no sofá ao lado de Margaret e manteve uma presença vigilante como se lhe tivessem dito que observasse os participantes da discussão. Por seu lado, Adrian não se mostrava preocupado por receber a visita de dois desconhecidos. E a sua despreocupação não se alterou quando St. James começou a falar de dinheiro - de enormes quantias - que faltavam na fortuna do pai.
Margaret levou algum tempo a digerir as implicações daquilo que St. James acabara de revelar e perceber até que ponto a herança de Adrian tinha sido delapidada. Porque parecia que a quantia que deveria caber a Adrian, por muito pequena que fosse, tendo em conta as disposições do pai, era no fim de contas extremamente inferior ao que Margaret tinha imaginado.
- O senhor está a querer dizer... - exclamou ela.
- Mãe! - interrompeu Adrian. - Continue - pediu a St. James. Parecia que o homem de Londres tinha vindo fazer mais do que revelar uma mudança nas expectativas de Adrian. Disse-lhe que Guy tinha andado a transferir dinheiro para fora de Guemsey nos últimos oito ou nove meses e St. James viera ver se Adrian sabia a razão pela qual o pai tinha enviado enormes quantias de dinheiro para uma conta em Londres, com a morada em Bracknell. Informou Adrian que estava já uma pessoa a trabalhar naquela informação em Inglaterra, mas se o senhor Brouard pudesse facilitar as coisas dando-lhes pormenores que ele pudesse ter...
Para Margaret, aquilo era claro como água.
- Qual é precisamente o seu trabalho, senhor St. James? - perguntou antes que Adrian pudesse responder. - Francamente... eu não tenciono ser indelicada... mas não percebo por que razão o meu filho tem de responder às suas perguntas, sejam elas quais forem. - Aquilo deveria ter sido o suficiente para manter Adrian de boca calada, mas claro que não foi.
- Não faço idéia por que razão o meu pai andaria a transferir dinheiro fosse para onde fosse.
- Não lho enviou a si, por razões pessoais? Para formar uma empresa? Ou qualquer outra razão? Qualquer tipo de dívidas?
Adrian retirou do bolso um maço de tabaco amarrotado e acendeu um cigarro.
- O meu pai não sustentava os meus negócios - disse. - Nem nada do que eu fizesse ou quisesse fazer. Não o fazia e pronto.
Margaret estremeceu interiormente. Ele não tinha idéia da figura que estava a fazer. E estava a oferecer-lhes mais do que eles tinham pedido. E porque não haveria de o fazer se agora tinha a oportunidade de a irritar? Dissera aquelas palavras aproveitando a oportunidade para se vingar sem se preocupar com as conseqüências daquilo que dizia. O seu filho era exasperante.
- Então o senhor não tem qualquer ligação com a International Access? - inquiriu St. James.
- O que é isso? - perguntou cautelosamente Margaret.
- Trata-se do destinatário das transferências do pai do senhor Brouard. Mais de dois milhões de libras, segundo consta.
Margaret tentou parecer interessada e não atônita, mas sentia como que uma mão de ferro a apertar-lhe os intestinos. Se Guy lhe tivesse de facto enviado aquele dinheiro, pensou, se Adrian lhe tivesse mentido também a respeito disso... Porque International Access não fora o nome escolhido por Adrian para a companhia que desejava criar? Era mesmo dele dar um nome ao projecto antes de o ter preparado. Mas não seria isso? Não estaria ali a brilhante idéia que o faria ganhar milhões, se ao menos o pai o tivesse financiado? No entanto, Adrian afirmara que o pai não investira um tostão furado na sua idéia. E se Guy lhe tivesse afinal andado a dar dinheiro...
Qualquer coisa que pudesse fazer com que Adrian parecesse culpado teria de ser tratada imediatamente.
- Senhor St. James - disse Margaret. - Posso garantir-lhe que se o Guy mandou dinheiro para Inglaterra não foi para o Adrian.
- Não? - St. James falava num tom tão agradável como aquele que ela tentava utilizar, mas não deixou de perceber o olhar que ele trocara com a mulher, nem de o interpretar correctamente. Na melhor das hipóteses, certamente achariam estranho que ela falasse por um filho adulto que parecia perfeitamente capaz de falar por si, na pior achariam que ela gostava de se meter onde não era chamada. Que pensassem o que quisessem. Tinha preocupações mais importantes do que a figura que estava a fazer diante de dois desconhecidos.
- Suponho que o meu filho mo teria dito. Diz-me tudo - afirmou. Como não me disse que o pai lhe tinha mandado dinheiro, é porque não mandou. Pronto.
- De facto - disse St. James, olhando para Adrian. - Senhor Brouard, e não haveria outras razões que não fossem negócios?
-Já perguntou isso - declarou Margaret.
- Não creio que ele tenha respondido - disse delicadamente a mulher de St. James. - Pelo menos completamente.
Ela era exactamente o tipo de mulher que Margaret mais odiava: ali, flacidamente sentada, com o cabelo caído e uma pele perfeita. Estaria provavelmente deliciada em ser vista e não ser ouvida, como uma esposa vitoriana que tivesse aprendido a recostar-se e a contemplar a Inglaterra.
- Escute lá... - disse Margaret, mas Adrian interrompeu-a.
- Não recebi dinheiro do meu pai. Para nada.
- Pronto! - Margaret começou a levantar-se. - Agora, se não há mais
nada a tratar, temos muito que fazer antes da minha partida.
Mas deteve-se ao ouvir a pergunta seguinte.
- Haverá mais alguém, senhor Brouard? Alguém que o senhor conheça em Inglaterra e que ele possa ter querido ajudar de alguma maneira?
Alguém associado a um grupo chamado International Access?
Aquilo era de mais. Já tinham dado ao maldito homem aquilo que ele queria. Agora queriam que se fosse embora.
- Se o Guy mandava dinheiro para algum sítio - disse Margaret despeitada - devia haver provavelmente uma mulher metida no assunto.
Sugiro que procurem por aí. Adrian? Querido? Ajudas-me com as malas?
Olha que são horas de irmos.
- Alguma mulher em especial? - perguntou St. James. - Sei que ele tinha uma relação com a senhora Abbott, mas ela vive aqui em Guernsey... Haverá alguém em Inglaterra com quem possamos falar?
Teriam de lhe dar um nome se quisessem ver-se livres dele. E seria melhor que o nome viesse da parte deles do que se aquele homem andasse a investigar e usasse o que descobrisse para depois ofender o filho. Dito por eles poderia ter um ar inocente. Por outra pessoa parecia que tinham querido esconder alguma coisa. Voltou-se para Adrian tentando falar num tom natural embora levemente impaciente para deixar que os intrusos percebessem que lhe estavam a roubar tempo.
- Oh... Havia aquela rapariga que no ano passado veio contigo visitar o teu pai. Aquela tua amiga que jogava xadrez. Chamava-se Carol? Carmen? Não. Carmel. É isso Carmel Fitzgerald. O Guy ficou muito interessado nela, não é verdade? Até tiveram uma espécie de romance, segundo me lembro. Quando o teu pai soube que ela e tu não estavam... bom, tu sabes. Não era esse o nome dela, Adrian?
- O pai e a Carmel...
Margaret continuou para se assegurar de que o casal St. James tinha compreendido.
- O Guy apreciava as mulheres e como o Adrian e a Carmel não andavam um com o outro... querido, talvez ele estivesse mais interessado na Carmel do que tu pensavas. Tu até achaste engraçado; eu lembro-me, "O pai escolheu a Carmel como Sabor do Mês", disseste. Lembro-me que nos fartámos de rir. Mas o teu pai não poderia ter estado mais interessado nela do que tu pensavas? Disseste-me que ela falava do assunto como se fosse uma piada, mas talvez houvesse alguma coisa mais séria. Não seria próprio dele comprar o afecto de uma pessoa, mas isso era porque nunca tivera necessidade de o fazer. E no caso dela... O que pensas, querido?
Margaret susteve a respiração. Sabia que tinha falado durante muito tempo, mas não havia mais nada a fazer. Ele tinha de ter as pistas para retratar a relação entre o pai e a mulher com quem ele próprio tencionara casar. Só tinha de pegar na deixa e dizer: "Oh, sim, o pai e a Carmel. Foi engraçado. Têm de falar com ela se andam à procura do sítio para onde foi o dinheiro." Mas não foi isso que aconteceu.
- Não seria a Carmel - disse para o homem de Londres. - Mal se conheciam. O meu pai não estava interessado. Não era o tipo dele.
- Mas tu disseste... - declarou Margaret, mesmo sem querer. Ele olhou-a.
- Acho que não. Tu é que tiraste essas conclusões. E porque não? Seria lógico, não é verdade?
Margaret viu que os outros dois não faziam idéia do que mãe e filho diziam um ao outro, mas que estavam certamente interessados em saber. Porém ela estava de tal modo aturdida pelas novidades que o filho lhe estava a dar que nem teve tempo de decidir quais os danos que poderia provocar ter a conversa que queria ter com Adrian diante deles. Meu Deus, que outras mentiras já lhe teria dito? E se ela pronunciasse a palavra mentira diante daquela gente de Londres, o que aconteceria?
- Tirei conclusões apressadas... - disse. - O teu pai sempre... bom, sabes como ele era com as mulheres. Conclui... não devo ter percebido bem... Mas tu disseste que ela achou piada, não disseste? Talvez estivesses a falar de outra pessoa e eu pensei que falasses da Carmel...
Ele sorriu trocista, gozando de facto o espectáculo de ver a mãe ter de se retractar do que acabara de dizer. Deixou-a hesitar durante algum tempo e depois interrompeu-a.
- Não sei de ninguém em Inglaterra - disse aos outros. - Mas o meu pai tinha alguém aqui na ilha. Não sei quem era, mas a minha tia sabe.
- Ela disse-lhe?
- Ouvi-os a discutir o assunto. Só lhes posso dizer que era uma rapariga muito novinha, porque a tia Ruth ameaçou-o de que ia contar ao pai dela. Disse que se fosse essa a única maneira de o meu pai deixar de andar com a miúda, fá-lo-ia. - Esboçou um sorriso triste. - O meu pai era uma boa bisca - acrescentou. - Não me admira que alguém tenha acabado por matá-lo.
Margaret fechou os olhos, desejando fervorosamente que acontecesse alguma coisa que a transportasse daquela sala, e amaldiçoou o filho.
Capítulo 25
- JAMES E A MULHER NÃO TIVERAM DE IR EM BUSCA DE RUTH BROUARD. Foi ela que os encontrou. Entrou na sala com um ar muito emocionado.
- Senhor St. James, que grande felicidade. Telefonei para o seu hotel e disseram-me que o senhor tinha vindo para cá. - Ignorou a cunhada e o sobrinho e pediu a St. James que a acompanhasse porque tudo se tinha subitamente esclarecido e ela queria que ele soubesse imediatamente.
- Devo ir... - perguntou Deborah com um aceno de cabeça na direcção da porta da rua.
Mas assim que soube a identidade dela, Ruth convidou-a a acompanhá-los.
- Mas o que se passa, Ruth? - protestou Margaret Chamberlain. Se tem a ver com a herança do Adrian...
Mas Ruth continuou a ignorá-la, fechando mesmo a porta enquanto dizia para St. James.
- Têm de desculpar a Margaret. Ela é bastante... - Encolheu os ombros com ar compreensivo e acrescentou.
- Venham comigo. Estou no escritório do Guy.
Assim que lá chegou não perdeu tempo com preâmbulos.
- Já sei o que ele fez com o dinheiro - disse-lhes. - Olhem. Vejam. St. James viu que havia um quadro a óleo sobre a secretária, com
cerca de sessenta centímetros de comprimento e quarenta e cinco de largura, seguro nas pontas por quatro livros que serviam de pisa-papéis. Ruth tocou-lhe ao de leve como se fosse um objecto sagrado.
- Por fim, o Guy trouxe-o para casa.
- De que se trata? - perguntou Deborah, aproximando-se de Ruth e olhando para o quadro.
- A bela dama com o livro e a pena - disse Ruth. - Pertencia ao meu avô. E antes ao pai dele e a todos os pais, tanto quanto sei. Deveria ter sido para o Guy. Suponho que ele tenha gasto todo esse dinheiro para o encontrar. Não há mais nada... - A voz alterou-se-lhe e St. James ergueu a cabeça e viu que, por trás dos óculos redondos, os olhos de Ruth estavam cheios de lágrimas. - Nada mais resta deles, sabem.
Tirou os óculos e, limpando as lágrimas à manga da camisola grossa, dirigiu-se a uma mesa que ficava entre dois cadeirões num extremo da sala. Pegou numa fotografia e voltou com ela para junto deles.
- Aqui está - disse. - Podem vê-lo nesta fotografia. A maman entregou-nos a fotografia na noite em que partimos porque estávamos todos nela. Podem vê-los aqui. Grandpère, grandmère, tante Esther, tante Becca, os seus maridos recém desposados, os nossos pais. - Gardez-la... - Ruth pareceu aperceber-se de que se encontrava noutro local e noutro tempo. Voltou a falar inglês. - Desculpem-me. Ela disse-nos, "Guardem isto até que nos voltemos a reunir, para que nos conheçam quando nos virem." Não sabíamos que tal nunca aconteceria. E olhem, na fotografia, aqui está o quadro por cima do aparador. A bela dama com o livro e com a pena, onde sempre esteve. Vejam as pequenas figuras por trás dela, ao longe... todas ocupadas na construção de uma igreja. Um enorme templo gótico que levou cem anos a completar e ela, sentada tão... bom, tão serenamente. Como se soubesse alguma coisa acerca dessa igreja que as outras pessoas nunca haverão de conhecer. - Ruth sorriu afectuosamente para o quadro embora os seus olhos cintilassem. - Três cher frère - murmurou ela - Tu rias jamais oublié.
St. James veio para junto de Deborah para observar a fotografia, enquanto Ruth Brouard falava. Constatou que a tela poisada sobre a secretária era efectivamente a mesma que se via na fotografia e que a fotografia era aquela em que ele reparara da última vez que havia estado naquela sala. Nela uma enorme família reunia-se em redor de uma mesa para celebrar o ritual judaico da Passagem. Todos sorriam felizes para um mundo que em breve os destruiria.
- O que aconteceu ao quadro?
- Nunca soubemos - disse Ruth. - Limitávamo-nos a fazer suposições. Quando a guerra terminou, esperámos. Pensámos, durante algum tempo, que os nossos pais nos viriam buscar. A princípio, não sabíamos. E, durante algum tempo, continuámos a ter esperança... As crianças fazem-no, não é verdade? Só mais tarde o descobrimos.
- Que eles tinham morrido - murmurou Deborah.
- Que eles tinham morrido - confirmou Ruth. - Tinham ficado em Paris tempo de mais. Haviam fugido para o Sul a pensar que lá estariam em segurança e foi a última vez que ouvimos falar deles. Tinham ido para Lavaurette. Mas o governo de Vichy não os protegeu, claro. Traíram imediatamente os judeus. Afinal, foram piores que os nazis, porque todos os judeus eram franceses, eram o povo de Vichy. - Pegou na fotografia que St. James ainda segurava e olhou para ela continuando a falar. - No final da guerra, o Guy tinha doze anos e eu nove. Passaram anos antes de ele poder ir a França e descobrir o que tinha acontecido à nossa família. Sabíamos, por causa da última carta que havíamos recebido, que eles tinham deixado tudo para trás, excepto a roupa que cada um deles tinha podido meter numa mala. Por isso a bela dama com o livro e a pena ficaram, com o resto dos seus haveres, à guarda de um vizinho, Didier Lombard. Este disse ao Guy que os nazis vieram à procura de tudo o que era propriedade de judeus, mas claro que provavelmente estava a mentir. Sabíamos disso.
- Então, como diabo conseguiu o seu irmão encontrá-lo depois de tantos anos? - perguntou Deborah.
- O meu irmão era um homem determinado. Terá contratado quantas pessoas fossem necessárias: primeiro para efectuar as investigações e depois para recuperar a tela.
- A International Access - comentou St. James.
- O que é isso? - perguntou Ruth.
- Foi para lá que o dinheiro foi. O dinheiro que ele transferiu da sua conta de Guernsey. É uma companhia em Inglaterra.
- Ah, então é isso. - Estendeu o braço para um pequeno candeeiro que se encontrava sobre a secretária do irmão e movimentou-o para que brilhasse mais sobre o quadro. - Suponho que tenha sido assim que o encontrou. Faz sentido, não é verdade, quando pensamos nas enormes colecções de arte que são compradas e vendidas todos os dias em Inglaterra. Quando falarem com eles, provavelmente dir-vos-ão como o encontraram e quem conseguiu trazê-lo para aqui. Investigadores privados, provavelmente. Talvez uma galeria. Claro que deve ter tido que o voltar a comprar. Não lho devem ter simplesmente entregue.
- Mas se é seu... - disse Deborah.
- Como poderíamos prová-lo? Apenas temos uma fotografia da família que o mostra e quem olharia para a fotografia de um jantar para concluir que o quadro pendurado na parede é este? - Apontou para a tela que se encontrava sobre a secretária. - Não tínhamos outros documentos. Não havia outros documentos. O quadro sempre esteve na família: bela dama com o livro e a pena. E não há outra prova para além desta fotografia.
- O testemunho de pessoas que o tivessem visto em casa do seu avô?
- Suponho que já todas tenham morrido - disse Ruth. - E para além de Monsieur Bombard também não sei de mais ninguém. Por isso o Guy não teria tido outro remédio senão comprar isto a quem o possuía e foi o que fez, podem ter a certeza. Calculo que fosse o meu presente de anos:
trazer para a família a única coisa que restava da família. Antes que eu morra.
Olharam silenciosamente para a tela estendida sobre a secretária. Não havia dúvidas de que era antiga. Pareceu a St. James ser holandesa ou flamenga e era uma obra fascinante, de uma beleza intemporal que sem dúvida fora uma alegoria para o artista e para quem o mandara pintar.
- Gostava de saber quem ela é - disse Deborah. - Sem dúvida uma mulher nobre, por causa das vestes. São muito belas, não é verdade? E o livro é tão grande. Ter um livro assim... saber ler naquela altura... Devia ser muito rica. Talvez uma rainha.
- É apenas a dama com o livro e a pena - disse Ruth. - Para mim é suficiente.
St. James abandonou a contemplação do quadro.
- Como foi que o encontrou esta manhã? - perguntou a Ruth Brouard. - Estava aqui em casa? Entre as coisas do seu irmão?
- Era Paul Fielder que o tinha.
- O rapaz de quem o seu irmão era mentor?
- Entregou-mo. A Margaret pensou que ele tivesse roubado alguma coisa aqui de casa porque não deixou que ela lhe tocasse na mochila. Mas era isso que ele lá tinha guardado e que me entregou imediatamente.
- Quando foi isso?
- Esta manhã. A polícia trouxe-o do Bouet.
- Ele ainda cá está?
- Suponho que ainda esteja algures na propriedade. Porquê? - O rosto de Ruth tornara-se sério. - Não estão a pensar que ele roubou isto, pois não? Porque ele nunca o faria. Não está na sua natureza.
- Posso levar isto durante algum tempo, Miss Brouard? - St. James tocou na ponta da tela. - Só durante algum tempo. vou ter muito cuidado.
- Porquê?
- Se não se importa - disse ele como resposta. - Não tem de se preocupar. vou devolvê-lo rapidamente.
Ela olhou para a tela como se detestasse separar-se dela, o que sem dúvida era verdade. No entanto, uns instantes depois, acenou afirmativamente e retirou os livros das pontas da pintura.
- Precisa de ser emoldurado - afirmou. - E tem de ser pendurado onde deve ser.
Entregou a tela a St. James. Ele olhou para ela dizendo:
- Suponho que a senhora tivesse conhecimento do envolvimento do seu irmão com a Cynthia Moullin, Miss Brouard.
Ruth apagou o candeeiro da secretária e voltou a colocá-lo na sua posição original. Por uns momentos, St. James pensou que ela pudesse não responder.
- Descobri-os juntos - disse por fim. - Ele afirmou que acabaria por me dizer. Queria casar com ela.
- Não acreditou?
- Senhor St. James, o meu irmão afirmou vezes de mais que tinha encontrado a mulher certa. "Esta é a tal", dizia. "Ruth, esta mulher é decididamente a tal." Nessa altura acreditava verdadeiramente que assim era... porque tomava sempre esse arrepio de atracção sexual por amor, como acontece com muitas pessoas. Quando a sensação desaparecia, como acontece com essas coisas, concluía sempre que se tratava da morte do amor e não apenas da possibilidade de começar a amar.
- A senhora contou ao pai da rapariga? - perguntou St. James. Ruth dirigiu-se para junto da maqueta do museu da guerra na sua
mesa central. Limpou o pó inexistente do telhado.
- Não tive outra alternativa. Ele acabaria com as coisas. E não estava certo.
- Porquê?
- Ela é pouco mais do que uma menina. Não tinha experiência. Estive sempre disposta a fingir que não via quando ele andava com mulheres mais velhas porque eram mais velhas. Sabiam o que estavam a fazer, fosse o que fosse que pensassem que ele estivesse a fazer. Mas com a Cynthia... aquilo era de mais. Levara as coisas muito longe. Não me deixou outra alternativa senão ir falar com o Henry. Foi a única coisa de que me lembrei para os salvar aos dois. A ela de um desgosto de amor e a ele da censura.
- Não deu resultado, pois não?
Ela voltou-se.
- O Henry não matou o meu irmão, senhor St. James. Não lhe pôs as mãos em cima. Quando teve oportunidade de o fazer, não foi capaz. Acredite que ele não era homem para isso.
St. James viu que era necessário para Ruth Brouard acreditar naquele facto. Se permitisse que os seus pensamentos fossem noutra direcção, enfrentaria uma terrível responsabilidade. E aquilo que agora tinha de enfrentar já era suficientemente terrível.
- Tem a certeza daquilo que viu na manhã em que o seu irmão morreu, Miss Brouard?
- Vi-a - disse ela. - Seguia-o. Vi-a.
- A senhora viu uma pessoa - corrigiu-a delicadamente Deborah. Era uma pessoa vestida de preto, ao longe.
- Ela não estava em casa. Seguiu-o. Sei disso.
- O irmão dela foi preso - disse St. James. - Parece que a polícia se enganou. Haverá alguma possibilidade de a senhora ter visto o irmão e não ela? Ele teria tido acesso à capa e se alguém já a tivesse visto com ela vestida e depois o tivesse visto a ele... seria lógico que a senhora concluísse que estava a ver a China. - St. James evitou olhar para Deborah enquanto falava, sabendo como ela reagiria à hipótese de um dos River estar envolvido no caso. Mas havia ainda questões que teriam de ser tratadas apesar dos sentimentos da mulher.
- Também foi ver se o Cherokee River estava em casa? - perguntou. - Foi ver ao quarto dele, tal como fez com o da China?
- Fui ver ao quarto dela - protestou Ruth Brouard.
- E também foi ao quarto do Adrian? E ao quarto do seu irmão? Procurou a China aí?
- O Adrian nunca... O Guy e essa mulher... o Guy não... - As palavras de Ruth calaram-se.
Eram a resposta de que St. James precisava.
Quando a porta da sala se fechou, Margaret não perdeu tempo em começar a discutir o assunto com o filho. Este preparava-se para sair, mas ela chegou à porta à frente dele e tapou-lhe o caminho.
- Senta-te, Adrian. Temos de conversar. - Ouviu o tom ameaçador na sua própria voz e desejou poder retirá-lo, mas estava demasiado cansada para se servir das suas reservas limitadas de dedicação maternal e nada mais havia a fazer senão encarar os factos; Adrian fora uma criança difícil desde o dia em que nascera e as crianças difíceis transformavam-se muitas vezes em adolescentes difíceis e por sua vez em adultos difíceis. Durante muito tempo vira o filho como vítima das circunstâncias e sempre as usara para explicar todas as suas excentricidades. A sua insegurança provinha da presença de homens na sua vida que evidentemente não o entendiam e era exactamente isso que lhe provocara o sonambulismo e as fugas de que apenas um tornado o poderia acordar. Justificava a sua incapacidade de criar uma vida própria com o temor de ser abandonado por uma mãe que se voltara a casar não apenas uma mas três vezes. Os primeiros traumas da infância justificavam aquele terrível incidente da defecação em público que resultará na sua expulsão da universidade. Aos olhos de Margaret houvera sempre uma razão para tudo. Mas não conseguia justificar o facto de ele ter mentido à mulher que lhe dera a vida para que a dele fosse mais fácil de viver. Queria qualquer coisa em troca. Já que não conseguia vingar-se como desejava, servia-lhe uma explicação.
- Senta-te - repetiu. - Não vais a parte alguma. Temos uma coisa para discutir.
- O quê? - perguntou-lhe ele. E Margaret sentiu-se furiosa porque Adrian não lhe pareceu cauteloso mas simplesmente irritado, como se ela lhe estivesse a ocupar um tempo valioso.
- A Carmel Fitzgerald - disse ela. - Tenciono chegar ao fundo desta questão.
Ele olhou-a de frente e ela viu o filho a cometer a temeridade de parecer insolente, como um adolescente apanhado em flagrante num acto que lhe fora proibido, num acto em que tivesse querido ser apanhado como sinal do desafio que se recusava a verbalizar. Margaret sentiu uma comichão nas palmas das mãos, desejando poder apagar aquela expressão do rosto de Adrian. O lábio superior levemente erguido e as narinas abertas. Conteve-se e dirigiu-se a uma cadeira.
Ele manteve-se junto à porta, mas não saiu da sala.
- Muito bem, a Carmel? O que é que tem?
- Disseste-me que ela e o teu pai...
- Tu é que concluíste isso tudo. Eu não te disse um corno.
- Não te atrevas a usar essa linguagem...
- Uma merda - repetiu ele. - Uma porra.
- Adrian!
- Tu tiraste as tuas conclusões. Passaste toda a tua vida a comparar-me com ele. E, sendo esse o caso, porque haveria alguém de preferir o filho ao pai.
- Isso não é verdade!
- Embora seja engraçado, ela preferia-me. Mesmo na presença dele. podes dizer que ela não era o tipo dele e que o sabia. Não era loura, não era submissa como ele gostava, não estava apropriadamente deslumbrada pelo dinheiro e pelo poder dele. Mas o facto é que ela não ficou Impressionada com ele, por muito encanto que ele distribuísse. Sabia que não passava de um jogo, e era um jogo, não é verdade? A conversa inteligente, as anedotas, as perguntas, a atenção que dava às mulheres, Ele não a queria de verdade, mas se ela tivesse estado disposta, ele teria aproveitado porque era isso que fazia sempre. Era a sua segunda natureza, bem sabes. Quem melhor do que tu? Mas ela não estava disposta. - Então porque foi que me disseste... que me fizeste concluir... e não o negues. Fizeste-me concluir. Porquê?
- Porque já tinhas imaginado tudo na tua cabeça. A Carmel e eu Itínhamos acabado tudo quando eu cheguei cá para o vir visitar, e que outra razão poderia haver? Eu tinha-o apanhado com as mãos nas cuecas dela...
- Pára com isso!
- E fora forçado a terminar tudo. Ou ela acabara tudo, porque o preferira. Era a única coisa que podias imaginar, não é verdade? Porque se não fosse isso, se eu não a tivesse perdido para o meu pai, então era porque havia outra coisa qualquer e não querias pensar nisso, porque esperavas que essas coisas já tinham passado, - Estás a dizer disparates.
- E foi isto que se passou, mãe. A Carmel estava disposta a aturar quase tudo. Não era uma rainha de beleza e também não era brilhante. Provavelmente nunca prenderia mais do que um homem em toda a sua vida, por isso estava decidida a assentar. E depois disso não seria provável que fosse atrás de outros homens. Em resumo. Era perfeita. Tu percebeste logo. Eu percebi. Toda a gente percebeu. E a Carmel também.
Éramos feitos um para o outro. Mas houve apenas uma coisa com que não foi capaz de se comprometer, - Que espécie de coisa? De que estás a falar? - De uma coisa nocturna.
- Nocturna? O sonambulismo? Ficou assustada? Não compreendeu que essas coisas...
- Eu fiz chichi na cama - interrompeu ele, com o rosto afogueado de humilhação. - Pronto. Estás contente? Fiz chichi na cama.
Margaret tentou esconder a sua repugnância.
- Pode acontecer a qualquer um. Uma noite em que se bebe muito... Um pesadelo, até... A confusão de estares numa casa que não é tua...
- Aconteceu todas as noites que cá estivemos - disse ele. - Todas as noites. Ela mostrou-se compreensiva, mas quem a pode censurar por ter acabado tudo? Até uma jogadora de xadrez desengraçada, sem qualquer esperança de conseguir arranjar outro homem, tem os seus limites. Estava disposta a aturar as crises de sonambulismo. Os suores nocturnos. Os pesadelos. Até a minha descida ocasional ao nevoeiro. Mas impôs um limite ao saber que tinha de dormir no meu mijo e não a posso censurar. Durmo nele há trinta e sete anos e é muito desagradável.
- Não! Isso já passou. Sei que sim. O que se passou aqui em casa do teu pai foi uma aberração. Não acontecerá de novo porque o teu pai está morto. vou telefonar à Carmel. vou dizer-lhe...
- Estás impaciente a esse ponto, não é verdade?
- Mereces...
- Deixa-te de mentiras. A Carmel era a melhor hipótese de te veres livre de mim, mãe. Só que não funcionou como estavas à espera.
- Não é verdade!
- Ah não? - Abanou a cabeça com ar trocista. - E eu que pensava que não querias mais mentiras. - Voltou-se para a porta onde a mãe já não estava para o impedir de sair da sala. - Não quero saber mais disso.
- Disso o quê, Adrian, não podes...
- Posso - disse ele. - Posso sim. Sou o que sou, e que é, temos de o confessar, exactamente aquilo que quiseste que eu fosse. Olha onde chegámos os dois, mãe. Exactamente neste momento estamos os dois presos um ao outro.
- Estás a culpar-me? - perguntou-lhe ela, ofendida com o modo com que ele interpretava todos os seus gestos de afecto. Não havia agradecimentos por tê-lo protegido, não havia gratidão por tê-lo guiado, não havia qualquer reconhecimento por ter intercedido por ele. Meu Deus, pelo menos, merecia um aceno de cabeça pelo seu incansável interesse pelos assuntos dele. - Adrian, estás a culpar-me? - perguntou de novo quando ele não respondeu.
Mas como resposta, apenas recebeu uma gargalhada. Ele fechou a porta e seguiu o seu caminho.
- A China disse que não estava envolvida com ele - disse Deborah ao marido quando já se encontravam no caminho. Pesava cada palavra. - Mas poderia estar... e talvez não mo quisesse dizer. Poderá sentir-se [embaraçada por ter um caso com ele, logo depois de ter terminado tudo com o Matt. Não deve de facto sentir-se muito orgulhosa por isso. Não por razões morais, mas porque... bom, é muito triste. Mostra que sente uma necessidade de... e ela odiaria sentir uma coisa dessas. Odiaria o que isso tpoderia mostrar a seu respeito.
- Isso poderia explicar por que razão ela não estava no quarto concordou Simon.
- O que dá oportunidade a outra pessoa... outra pessoa que soubesse onde ela estava... para pegar na capa dela, no anel, naqueles cabelos, nos sapatos... Teria sido fácil.
- Mas só uma pessoa o poderia ter feito - comentou Simon. - Percebes isso, não percebes?
Deborah desviou o olhar.
- Não posso acreditar que tenha sido o Cherokee. Há outros, Simon, outros com oportunidade e, melhor ainda, motivo. Por exemplo, o Adrian. Ou o Henry Moullin.
Simon ficou em silêncio a olhar para um passarinho que saltitava por
entre os ramos nus de um castanheiro. Disse o nome dela num sopro - quase
que num suspiro - e Deborah sentiu a diferença das suas posições. Ele tinha
informações. Ela não. Era evidente que ele atribuía o crime a Cherokee.
Por causa disso, Deborah não correspondeu à ternura que havia no olhar dele.
- E agora o que fazemos? - perguntou com alguma formalidade. Ele aceitou, sem um protesto, aquela mudança de tom.
- Acho que Kevin Duffy - disse.
O coração dela bateu apressado com aquela alteração.
- Então pensas que pode haver outra pessoa?
- Penso que vale a pena falar com ele. - Simon olhou para a tela que Ruth Brouard lhe emprestara. - Entretanto, Deborah, és capaz de ver onde está o Paul Fielder? Suponho que não ande muito longe.
- O Paul Fielder? Porquê?
- Gostava de saber onde foi que arranjou o quadro. Se o Guy Brouard lho deu para guardar, ou se o rapaz o viu e lhe pegou e só o entregou à Ruth quando foi apanhado com ele na mochila.
- Não posso imaginar que o tenha roubado. Para que o quereria? Não é aquele tipo de coisa que se espera que um adolescente roube, pois não?
- Não. Mas, por outro lado, ele não parece um adolescente vulgar. E tenho a impressão de que a família tem dificuldades. Pode ter pensado que o quadro era uma coisa que podia vender numa das lojas de antigüidades da cidade. Vale a pena investigar.
- Achas que ele me diz se eu lhe perguntar? - perguntou Deborah em tom de dúvida. - Não posso acusá-lo de ter roubado o quadro.
- Acho que consegues fazer as pessoas falar, seja do que for - replicou o marido. - Incluindo o Paul Fielder.
Separaram-se. Simon dirigiu-se para casa dos Duffy e Deborah ficou no carro a tentar resolver em que direcção iria procurar Paul Fielder. Lembrando-se do que ele já passara naquele dia, calculou que desejaria um pouco de paz e sossego. Estaria certamente num dos jardins. Teria de verificar um por um.
Começou pelo jardim tropical, que era o que ficava mais perto da casa. Aí, num lago, nadavam placidamente os patos e um coro de cotovias cantava sobre um ulmeiro, mas não havia lá ninguém, por isso passou ao jardim das esculturas. Este continha a sepultura de Guy Brouard e quando Deborah encontrou o velho portão aberto teve a certeza de que o rapaz lá estaria.
E assim era. Paul Fielder estava sentado no chão frio, junto à campa do seu mentor. Batia suavemente com o pé em redor de um tufo de amores-perfeitos que tinham sido plantados junto da campa.
Deborah percorreu o jardim e foi ter com ele. Os passos dela rangeram na gravilha, mas nada fez para esconder o som da sua chegada. Mesmo assim o rapaz não levantou a cabeça das flores.
Deborah viu que ele estava sem meias e que calçava chinelos em vez de sapatos. Tinha uma mancha de terra num dos seus magros tornozelos e os fundilhos das calças de ganga estavam sujos e puídos. Não estava bem protegido contra o frio daquele dia. Deborah tinha a certeza que ele deveria estar a tiritar.
Subiu os poucos degraus cobertos de musgo que levavam à sepultura. Porém, em vez de ir ter com o rapaz dirigiu-se ao caramanchão onde havia um banco de pedra mesmo por detrás de um arbusto de jasmim. As flores lançavam no ar uma suave fragrância. Ela aspirou-a e viu o que Paul estava a fazer aos amores-perfeitos.
- Suponho que sintas muito a falta dele - disse ela por fim. - Perder alguém que se ama é uma coisa terrível. Principalmente um amigo. Nunca são de mais. Pelo menos sempre foi isso que eu pensei.
Ele curvou-se sobre os amores-perfeitos e arrancou uma flor murcha. Enrolou-a entre o polegar e o indicador.
Porém, pelo seu leve bater das pálpebras, Deborah apercebeu-se de que Paul a estava a ouvir.
- Creio que a coisa mais importante acerca da amizade é a liberdade de sermos como somos. Os verdadeiros amigos aceitam-nos com todos os nossos defeitos. Estão presentes nos bons momentos; e nos maus também. Pode-se sempre confiar em que nos digam a verdade.
Paul deitou fora o amor-perfeito e puxou as ervas daninhas invisíveis entre o resto das plantas.
- Exigem o nosso melhor - disse Deborah. - Mesmo quando não sabemos o que é melhor para nós. Espero que o senhor Brouard tenha sido para ti um desses amigos. Tiveste sorte. Deve ter sido terrível tê-lo perdido.
Paul levantou-se. Limpou as mãos às pernas das calças. com medo que ele fugisse, Deborah continuou a falar tentando arranjar maneira de ganhar a confiança do rapaz
- Quando uma pessoa desaparece assim... principalmente como... quero dizer, da maneira horrível como ele se foi... como ele morreu, faríamos tudo para o trazer de volta. E porque não podemos e porque sabemos que não podemos queremos ter alguma coisa dele, para que ele fique connosco um pouco mais, até que sejamos capazes de o deixar partir.
Paul arrastou os chinelos. Limpou o nariz à manga da camisa de flanela e lançou a Deborah um olhar cauteloso. Depois voltou apressadamente o rosto e fixou os olhos no portão a trinta metros de distância. Deborah, que o tinha fechado, arrependeu-se do seu gesto por alguns instantes, porque ele poderia sentir-se encurralado. E como tal não estaria muito disposto a falar.
- Os vitorianos não eram idiotas - disse ela. - Fabricavam jóias com o cabelo das pessoas mortas. Sabias? Parece macabro, mas, se pensarmos bem nisso, era muito reconfortante ter um alfinete ou um medalhão que possuísse uma pequena parte de um ente querido. É triste já não o fazermos, porque continuamos a querer alguma coisa e, se uma pessoa morre e não nos deixa uma parte de si... que poderemos fazer, senão tomar aquilo que podemos encontrar?
Paul deixou de arrastar os pés no chão. Deixou-se ficar completamente imóvel, como uma das esculturas, contudo uma mancha de cor, surgiu-lhe no rosto, como se fosse uma impressão digital na sua pele branca.
- Gostava de saber se foi isso que se passou com o quadro que entregaste a Miss Brouard. E se o senhor Brouard to mostrou porque queria fazer uma surpresa à irmã. Talvez te tenha dito que era um segredo só entre tu e ele e que por isso sabias que mais ninguém tinha conhecimento dele.
O rubor chegou às orelhas do rapaz. Fitou Deborah e logo a seguir desviou os olhos. Puxou a fralda da camisa que lhe saía de um lado das calças.
- Depois - continuou Deborah -, quando o senhor Brouard morreu tão de repente, talvez pensasses que o quadro era uma recordação. Afinal só tu e ele tinham conhecimento da existência dele. Que mal faria? Foi isso que aconteceu?
O rapaz estremeceu como se lhe tivessem batido. Soltou um grito inarticulado.
- Não há problema - disse Deborah. - Já temos o quadro. Mas o que eu gostaria de saber...
Ele deu meia volta e fugiu. Desceu os degraus a correr, enquanto Deborah se erguia do banco de pedra e gritava o nome dele. Pensou que o tinha perdido, mas, a meio do jardim, ele deteve-se junto à enorme estátua de bronze da mulher grávida com uma expressão melancólica e grandes seios. Voltou-se para Deborah e ela viu que ele mordia o lábio inferior enquanto a observava. Avançou um passo. Ele não se mexeu. Ela aproximou-se lentamente, como se ele fosse uma corça assustada. Quando estava a cerca de dez metros de distância, ele fugiu de novo. Mas depois deteve-se no portão do jardim e olhou de novo para ela. Abriu o portão e dirigiu-se para leste, mas a passo normal.
Deborah percebeu que devia segui-lo.
Capítulo 26
- JAMES ENCONTROU KEVIN DUFFY JUNTO À CASA A TRABALHAR NUMA espécie de horta ainda sem nada plantado. Remexia a terra com uma forquilha, mas interrompeu o que estava a fazer quando viu St. James
- A Vai foi à casa grande. Está lá na cozinha.
- Era consigo que eu queria falar - disse St. James. - Tem uns minutos? O olhar de Kevin dirigiu-se para a tela que St. James tinha na mão
mas se a reconheceu não deu qualquer sinal disso.
- Pode ser - disse.
- Sabia que o Guy Brouard era amante da sua sobrinha?
- As minhas sobrinhas têm seis e oito anos, senhor St. James. O Guv Brouard foi muitas coisas para muitas pessoas. Mas a pedofilia não era um dos seus interesses.
- Estou a falar de Cynthia Moullin, a sobrinha da sua mulher - esclareceu St. James. - Sabia que a Cynthia tinha uma relação com o senhor Brouard?
Ele não respondeu mas o seu olhar dirigiu-se para a casa grande o que foi resposta suficiente.
- Falou com o Brouard a esse respeito? - perguntou St. James Novo silêncio.
- E com o pai da rapariga?
- Não posso ajudá-lo nesse campo - respondeu Duffy. - Foi só isso que veio perguntar-me?
- De facto, não - respondeu St. James. - Vim saber a sua opinião a respeito disto. - Desenrolou cuidadosamente a tela antiga.
Kevin Duffy enfiou na terra os dentes da forquilha, e deixou o utensílio fixo no solo. Aproximou-se de St. James, limpando as mãos aos fundilhos das calças de ganga. Olhou para o quadro e soltou um assobio
- Parece que o senhor Brouard se deu a grandes trabalhos para reaver isto - disse St. James. - A irmã disse-me que lhe tinham perdido o rasto desde os anos quarenta. Não sabe de onde veio originariamente, não sabe onde esteve desde a guerra e não sabe como o irmão o reaveu. Gostaria de saber se pode esclarecer alguma destas questões.
- Porque haveria eu...
- O senhor tem duas prateleiras de livros e vídeos de arte na sua sala, senhor Duffy, e o diploma de uma licenciatura em História da Arte pendurado na parede. Isso sugere que deve saber mais sobre este quadro do que um vulgar caseiro.
- Não sei onde esteve - replicou ele. - Nem como ele o reaveu.
- Resta-nos a última dúvida - comentou St. James. - Sabe então a sua origem?
Kevin Duffy não deixara de olhar para a tela.
- Venha comigo - disse algum tempo depois. E entrou em casa. Tirou as botas enlameadas à porta e convidou St. James a entrar
para a sala. Ligou um conjunto de luzes do tecto que incidiam directamente sobre os seus livros e pegou num par de óculos que se encontravam poisados sobre uma cadeira muito puída. Percorreu a sua colecção de livros até encontrar aquele que queria. Retirou-o da prateleira, sentou-se e consultou o índice. Depois de descobrir o que procurava, folheou-o até chegar à página desejada. Observou-a durante muito tempo antes de voltar para St. James o livro que tinha no colo.
- Veja o senhor - disse.
Aquilo que St. James viu não era a fotografia do quadro como pensara que ia acontecer, tendo em conta a reacção de Duffy. Tratava-se porém de um desenho, de um mero estudo para um futuro quadro. Estava parcialmente colorido, como se o artista tencionasse experimentar os tons que ficariam melhor na obra final. Apenas completara o vestido e o azul escolhido era o mesmo que acabara por utilizar no quadro. Talvez tendo tomado uma decisão rápida sobre o resto da obra-e considerando desnecessário colorir mais o desenho, o artista tinha simplesmente passado à tela, que era aquela que St. James tinha nas mãos.
A composição e as figuras do desenho do livro eram idênticas às do quadro que Paul Fielder tinha levado a Ruth Brouard. Em ambos os casos, uma bela dama com um livro e uma pena estava sentada placidamente em primeiro plano, enquanto ao fundo, uma dezena de operários rodeavam as pedras que formavam uma enorme catedral gótica. A única diferença entre o estudo e a obra final era que alguém tinha dado um título ao primeiro: chamava-se Santa Bárbara e quem desejasse vê-lo poderia encontrá-lo no Museu Real das Belas-Artes de Antuérpia, entre os mestres holandeses.
- Ah - disse lentamente St. James. - Quando o vi pela primeira vez, pensei que se tratava de uma obra valiosa.
- Valiosa? - O tom de voz de Kevin Duffy era, ao mesmo tempo, reverente e incrédulo. - O que tem nas suas mãos é um Pieter de Hooch. Século dezassete. Um dos três mestres de Delft. Até este momento pensava que ninguém soubesse que este quadro existia.
St. James olhou para a tela.
- Meu Deus! - exclamou.
- Pode procurar em qualquer livro de história que lhe venha parar às mãos. Não vai encontrar esse quadro - disse Kevin Duffy. - Encontra apenas o desenho, o estudo e mais nada. Tanto quanto sei, De Hooch nunca pintou o quadro. Não gostava de temas religiosos, por isso sempre se supôs que ele estava apenas a abordar o tema para logo o abandonar.
St. James disse para consigo que a afirmação de Kevin Duffy confirmava o que Ruth lhe tinha dito. Que, tanto quanto se lembrava, o quadro sempre estivera com a sua família. Geração após geração, todos os pais o tinham passado para os filhos: tratava-se de uma herança de família. Por causa disso, provavelmente ninguém pensara em levar o quadro a um especialista para saber exactamente do que se tratava. Era simplesmente, tal como Ruth afirmara, a imagem de uma bela dama com um livro e uma pena. St. James disse a Kevin Duffy que fora assim que Ruth descrevera o quadro.
- Não é uma pena - disse Kevin Duffy. - Trata-se de uma palma. É o símbolo dos mártires. Como vê, é uma pintura religiosa.
St. James examinou a tela mais de perto e viu que, de facto, parecia tratar-se de uma folha de palmeira, mas percebeu também como uma criança que não tivesse aprendido os símbolos usados na pintura daquele período e olhando para a tela, poderia tê-la interpretado como sendo uma pena longa e esguia.
- A Ruth disse-me que, depois da guerra, e quando teve idade suficiente para viajar, o irmão foi a Paris para trazer os haveres da família, mas tudo o que possuíam tinha desaparecido. Julgo que o quadro estivesse incluído.
- Teria sido a primeira coisa a ir - concordou Duffy. - Os nazis tencionavam apoderar-se de tudo o que qualificavam como arte ariana. Chamavam-lhe "repatriação". A verdade é que os canalhas levavam tudo o que pudessem apanhar.
- Parece que a Ruth pensa que um vizinho da família, um tal Monsieur Didier Bombard teve acesso aos seus haveres. Como não era judeu e se tivesse ficado com o quadro, porque teria este ido parar à mão dos alemães?
- A arte acabou nas mãos deles de várias maneiras. Não foi exactamente por via do roubo. Havia intermediários franceses, negociantes de arte que compravam as coisas. E os negociantes de arte alemães que punham anúncios nos jornais franceses, pedindo que os objectos de arte fossem expostos neste ou naquele hotel para serem vistos por compradores interessados: O seu Monsieur Bombard poderia ter vendido o quadro dessa maneira. Se não soubesse do que se tratava poderia tê-lo entregue por duzentos francos e ficado muito agradecido.
- E a partir daí, para onde poderia ter ido?
- Quem sabe? - disse Duffy. - No final da guerra, os Aliados criaram unidades de investigação para devolver aos donos os objectos de arte. Mas estavam por toda a parte. Só Gõring possuía vagões cheios deles. Mas tinham morrido milhões de pessoas... famílias inteiras desaparecidas sem que houvesse ninguém para reclamar os seus haveres. E aqueles que tinham ficado vivos mas não podiam provar que eram os donos tinham azar.
- Abanou a cabeça. - Suponho que tenha sido o que aconteceu com isto. Ou então um membro mais ganancioso do exército dos Aliados meteu-o na mochila e levou-o para casa de recordação. Ou alguém na Alemanha, talvez um único dono, o tenha comprado a um negociante francês durante a guerra e tenha conseguido mantê-lo escondido quando foi a invasão dos Aliados. Se toda a família tivesse morrido como se haveria de saber quem era o dono? E que idade teria o Guy Brouard nessa época? Doze? Catorze? No final da guerra não estaria a pensar em reaver os haveres da família. Só anos mais tarde teria pensado nisso mas, nessa altura, já teria desaparecido.
- E ter-lhe-iam sido precisos anos para o descobrir - disse St. James. - Já para não falar num exército de historiadores da arte, conservadores, museus, casas leiloeiras e investigadores. - "Mais uma pequena fortuna", acrescentou para si.
- Teve sorte de o encontrar - disse Duffy. - Não se sabe de grande parte das peças que desapareceram durante a guerra. Há outras sobre as quais ainda há discussão. Não sei como o senhor Brouard conseguiu provar que esta era dele.
- Julgo que a tenha comprado em vez de tentar provar fosse o que fosse - explicou St. James. - Falta uma enorme quantia nas suas contas bancárias. O dinheiro foi transferido para Londres.
Duffy ergueu uma sobrancelha.
- Terá sido esse o caso? - Parecia incrédulo. - Suponho que o podia ter arranjado num leilão estatal. Ou talvez tivesse aparecido numa loja de antigüidades de uma aldeia ou num mercado de rua. Mesmo assim, é-me difícil acreditar que alguém soubesse de que se tratava.
- Quantas pessoas são especialistas em história da arte?
- Não é preciso ser - disse Duffy. - Qualquer pessoa pode ver que o quadro é antigo. Seria normal que alguém o tivesse levado algures para ser avaliado.
- Mas se alguém o tivesse subtraído no final da guerra... Um soldado que o tivesse apanhado... onde? Em Berlim? Munique?
- Berchtesgaden? - sugeriu Duffy. - Os chefões nazis tinham todos casa aí e no final da guerra encheu-se de soldados das tropas aliadas. Todos em busca do que pudessem apanhar.
- Muito bem. Berchtesgaden - concordou St. James. - Um soldado apropria-se dele durante a pilhagem. Leva-o para a sua casa em Hackney, pendura-o por cima do sofá da sala e nunca mais pensa no assunto. O quadro fica ali até ele morrer e ser entregue aos filhos. Estes nunca apreciaram muito aquilo que os pais tinham, por isso vendem as coisas. Num leilão. Numa venda de tralha em segunda mão. Seja como for. Ele é comprado aí. Acaba numa banca em Portobello Road, por exemplo. Ou em Bermondsey. Ou numa loja de Camden Passage. Ou até mesmo no campo como o senhor sugeriu. O Brouard tinha há muito tempo pessoas à procura dele e quando o vêem arrebatam-no.
- Suponho que possa ter acontecido assim - disse Duffy. - Não. A verdade é que tem de ter acontecido assim.
St. James ficou intrigado pelo tom decidido da afirmação de Duffy.
- Porquê? - perguntou-lhe.
- Porque seria o único modo de o senhor Brouard o ter conseguido de volta. Não tinha maneira de provar que era dele. Isso significava que tinha de o voltar a comprar. Não o podia ter obtido na Christie's ou na Sotheby's, pois não? Portanto teria de ter sido...
- Espere lá - disse St. James. - Porque não poderia ser na Christie's ou na Sotheby's?
- Porque teria havido um lance mais importante. Um museu como o Getty com os bolsos sem fundo. Um árabe magnata do petróleo. Quem sabe?
- Mas o Brouard tinha dinheiro...
- Mas não tanto assim. Não seria suficiente. Pelo menos se a Christie's ou a Sotheby's soubessem exactamente o que tinham nas mãos e todo o mundo da arte tentasse obtê-lo.
St. James olhou para o quadro: uma tela de quarenta e cinco por sessenta e um centímetros, pintada a óleo por um gênio indiscutível.
- Senhor Duffy - perguntou lentamente -, estamos a falar exactamente de quanto dinheiro? Quanto calcula que vale o quadro?
- Diria que pelo menos dez milhões de libras - respondeu Kevin Duffy. - E antes de os lances terem começado.
Paul levou Deborah por detrás da casa grande e a princípio ela julgou que ele queria levá-la para os estábulos. Mas o rapaz continuou a percorrer o pátio que os separava da casa e desembocava num matagal por onde depois se meteu.
Ao segui-lo, Deborah encontrou-se numa enorme extensão de relva, atrás da qual havia um bosque de ulmeiros. Paul meteu-se por aí e Deborah estugou o passo para não o perder. Quando chegou às árvores, viu que havia uma vereda fácil de seguir, cujo solo estava esponjoso devido à enorme camada de folhas que a cobria. Seguiu-o até ver ao longe um tosco muro de pedra. Viu que Paul trepava por ele. Pensou que o iria perder aí, mas o jovem deteve-se ao chegar ao cimo do muro. Olhou para trás, para ver se ela o seguia e esperou que ela chegasse junto do muro. Nesse momento estendeu-lhe a mão e ajudou-a a passar para o outro lado.
Depois Deborah viu que a paisagem bem cuidada de Lê Reposoir dava lugar a um vasto cercado, onde ervas daninhas, arbustos e urtigas cresciam à vontade até quase à cintura e um caminho de terra batida levava a um curioso monte de terra. Não ficou surpreendida quando Paul desceu do muro e seguiu por esse caminho. Junto ao monte voltou à direita e deu a volta à base. Ela apressou-se a segui-lo.
Perguntava a si própria como poderia um velho monte ter abrigado um quadro, quando se apercebeu das pedras cuidadosamente colocadas na sua base. Percebeu então que não estava a ver um outeiro natural, mas sim uma coisa construída pelo homem pré-histórico.
O atalho que seguia para a direita era de terra batida, tal como o acesso que partia do muro e a uma curta distância do perímetro do monte, viu Paul Fielder abrir a combinação de um cadeado. Este fechava uma porta velha e desconjuntada que lhes permitiria passarem ao interior. O rapaz pareceu ouvi-la, pois ocultou com o ombro a combinação. Terminou-a com um dic e um estalo e usou o pé para empurrar a porta enquanto guardava cuidadosamente o cadeado no bolso. A abertura não tinha mais do que um metro e vinte. Paul baixou-se, entrou de lado como se fosse um caranguejo e desapareceu na escuridão.
Que fazer? Correr a contar tudo a Simon como uma esposa obediente ou seguir o rapaz? Deborah decidiu-se por esta última hipótese.
Lá dentro havia uma estreita passagem a cheirar a mofo com menos de um metro e meio entre o chão de pedra e o tecto também de pedra. Mas seis metros mais adiante a passagem abria-se e elevava-se numa abóbada central, fracamente iluminada pela luz exterior. Deborah endireitou-se, pestanejou e aguardou que os seus olhos se ajustassem. Logo a seguir apercebeu-se de que se encontrava numa câmara grande, toda construída de granito - chão, paredes e tecto - com o que parecia ser uma pedra sentinela, onde, com imaginação, se podia distinguir a silhueta gravada de um guerreiro com a sua arma, pronto para afastar os intrusos. Um bloco de granito, erguido a dez centímetros do solo parecia servir de altar. Perto dele havia uma vela apagada. E o rapaz também não estava lá dentro.
Deborah sentiu-se mal. Imaginou-se fechada naquele local sem que ninguém soubesse onde ela estava. Censurou-se por ter seguido cegamente Paul Fielder, mas depois acalmou e chamou pelo nome dele. Como resposta ouviu o riscar de um fósforo. A luz brilhou através de uma fissura na parede. Viu que aquilo indicava a presença de outra câmara e dirigiu-se para lá.
A abertura não tinha mais do que vinte cinco centímetros. Deslizou por ela, sentindo o frio húmido da parede exterior e viu que aquela câmara secundária continha várias velas e uma cama de campanha. À cabeceira havia uma almofada e aos pés uma caixa de madeira entalhada; no meio sentava-se Paul Fielder com uma caixa de fósforos numa mão e uma vela acesa na outra. Fixou a vela num nicho formado por duas pedras na parede externa. Quando o conseguiu, acendeu uma segunda vela e deixou cair pingos de cera para a fixar no chão.
- É o teu refúgio secreto? - perguntou-lhe Deborah em voz baixa. Foi aqui que encontraste a pintura, Paul?
Parecia-lhe pouco provável. Seria mais razoável que aquele local fosse um esconderijo para uma coisa completamente diferente e estava certa do que era essa coisa. A cama de campanha era uma prova muda e quando Deborah estendeu a mão para a caixa de madeira aos pés da cama teve a confirmação daquilo que pensara.
A caixa continha preservativos de vários tipos: com estrias, lisos, coloridos e com sabor. Eram suficientes para sugerir que o local era regularmente usado para a prática do sexo. De facto, era um local perfeito para esses encontros: escondido da vista, provavelmente esquecido e adequadamente caprichoso para uma jovem convencida de que ela e o seu amante eram seres malditos. Teria sido para aquele local que Guy Brouard trouxera Cynthia Moullin. A única dúvida era por que razão trouxera também ali Paul Fielder.
Deborah olhou para o rapaz. À luz da vela não pôde deixar de reparar no seu ar de querubim, na pele macia do seu rosto e nos caracóis renascentistas que lhe emolduravam a cabeça. Havia nele um ar declaradamente feminino acentuado pelas feições finas e pelo seu corpo de ossos delicados. Embora parecesse ser verdade que os interesses de Guy Brouard se tivessem certamente limitado às damas, Deborah sabia que não podia eliminar a possibilidade de que também Paul Fielder fosse objecto dos caprichos de Brouard.
O rapaz olhava para a caixa que Deborah abrira no colo. Lentamente, retirou de lá uma mão-cheia de pequenas embalagens e olhou-as. Depois, quando Deborah perguntou delicadamente: "Paul, tu e o senhor Brouard eram amantes?" Ele atirou os preservativos para dentro da caixa e fechou com força a sua tampa de madeira.
Deborah voltou-se para ele e repetiu a pergunta.
O rapaz voltou repentinamente as costas, assoprou as velas e desapareceu pela fenda por onde tinham acabado de entrar.
Paul disse para consigo que não haveria de chorar, porque aquilo não queria dizer nada. Mesmo nada. Era um homem e, segundo o que aprendera com Billy, com o pai, com a televisão, de vez em quando com uma revista Playboy subtraída e com os colegas da escola - quando ia à escola - um homem fazia sempre aquelas coisas. O facto de ele o ter feito no refúgio especial... porque certamente tê-lo-ia feito ali. Que outra coisa poderiam significar aquelas embalagens brilhantes senão que levara para ali alguém, que levara uma mulher para ali, uma pessoa suficientemente importante para que ele partilhasse com ela o segredo de ambos. És capaz de guardar um segredo só nosso, Paul? Se eu te levar lá dentro, prometes que não falas deste lugar a ninguém? Parece-me que já se esqueceram da sua existência com o passar do tempo. Gostaria que assim fosse tanto quanto possível. Estás disposto... Prometes? Claro que prometera. Era capaz e cumprira.
Vira a cama de campanha mas pensara que o senhor Guy a usava para dormir a sesta, para acampar, ou talvez para meditar ou rezar. Também vira a caixa de madeira, mas não a abrira porque fora ensinado desde pequeno e a experiência também já lhe dissera, que não devia pôr as mãos no que não lhe pertencia. De facto quase que impedira a senhora ruiva de a abrir. Mas ela tinha-a no colo e levantara a tampa antes de ele lha ter podido arrancar. Quando vira o que estava lá dentro...
Paul não era estúpido. Sabia o que aquilo significava. Estendera a mão para eles porque de facto pensara que pudessem desaparecer como uma coisa que se tenta agarrar num sonho. Mas tinham-se mantido reais, declarações concretas do que aquele local de facto representara para o senhor Guy.
A senhora falara mas ele não lhe ouvira as palavras, apenas o som da voz dela enquanto a câmara girava à sua volta. Tinha de sair e não ser visto, por isso apagara as velas e fugira.
Mas claro que não podia ir-se embora. Tinha o cadeado em seu poder e era responsável. Não podia deixar a porta aberta. Tinha de a fechar porque prometera ao senhor Guy que o faria...
E não ia chorar porque era estúpido chorar. O senhor Guy era um homem e um homem tinha necessidades e pronto. Aquilo nada tinha a ver com Paul ou com a amizade que tivera com ele. Tinham sido companheiros desde o princípio ao fim e o facto de ele ter partilhado aquele local com outra pessoa não mudava nada, pois não? Pois não? Afinal, o que dissera o senhor Guy? Será o nosso segredo. Dissera que mais ninguém partilharia o segredo? Dera-lhe alguma indicação de que mais ninguém teria importância suficiente para ser incluído no conhecimento da existência daquele local? Não, pois não? Ele não mentira. Por isso porque haveria de ficar naquele estado...
Como é que gostas, maricas? Como é que ele tá mete?
Era o que Billy dizia. Mas nunca fora esse o caso. Se Paul desejara ser mais íntimo do senhor Guy era porque desejava parecer-se com ele, não fundir-se com ele. E ser como ele significava partilhar e era o que tinham feito.
Locais secretos, pensamentos secretos. Um local para conversar e para estar. É para isso que isto serve, meu Príncipe. É para isso que o uso.
Afinal, usara-o para outras coisas. Mas não era preciso torná-lo menos sagrado a não ser que Paul quisesse que assim fosse.
- Paul? Paul?
Ouviu-a sair da câmara interior a tactear, o que era normal pois as velas estavam apagadas. Mas não teria problemas assim que chegasse à câmara principal. Aí não havia velas, mas a luz do dia filtrava-se, deixando que a claridade iluminasse a passagem principal para o interior do monte.
- Estás aí? - perguntou. - Ah, pregaste-me um susto. Pensei... - riu baixinho, mas Paul percebeu que ela estava nervosa e com vergonha de se sentir assim. Ele sabia como era.
- Porque me trouxeste aqui? - perguntou-lhe. - Foi... bom, foi por causa da tal pintura?
Ele quase se esquecera. Ao ver a caixa aberta e ao aperceber-se do significado do seu conteúdo... quase se esquecera. Queria que ela soubesse e compreendesse, porque alguém teria de o fazer. Miss Ruth achava que ele não tinha roubado nada de Lê Reposoir, mas seria sempre suspeito aos olhos de outras pessoas se ele não explicasse como conseguira o quadro. Não podia suportar que suspeitassem dele porque Lê Reposoir era o seu único refúgio na ilha e não desejava perdê-lo, não suportava perdê-lo, não conseguia ver-se sozinho em casa com Billy ou na escola a ouvir a troça e as invectivas dos colegas, sem esperança de poder fugir e nada neste mundo em que voltar a ter esperança. Mas se contasse a uma pessoa que fizesse parte da propriedade, iria trair um segredo que jurara guardar para sempre: a localização daquele dólmen. Não poderia senão contar a uma desconhecida que provavelmente não voltaria ali.
Só que agora... Não podia mostrar-lhe o local exacto. Tinha o seu próprio segredo a proteger. Mas precisava de lhe mostrar uma coisa, por isso dirigiu-se ao altar e ajoelhou-se diante da fenda que existia por trás a todo o comprimento da base. Retirou a vela dessa fenda e acendeu-a. Apontou para baixo, para que a senhora pudesse ver. - Aqui? - perguntou ela. - Era aqui que estava a pintura? - Olhou-o e pareceu querer observá-lo atentamente de modo que Paul acenou com a cabeça. Mostrou-lhe como poderia ter ficado metida na concavidade e que nunca teria sido visível a menos que uma pessoa se aproximasse do altar de pedra e se ajoelhasse na posição em que Paul se encontrava. - Que estranho - disse a senhora calmamente, lançando-lhe um sorriso bondoso. - Obrigada, Paul - disse. - Sabes, nunca pensei que fosses guardar aquele quadro para ti. Tenho um pressentimento de que não és pessoa para essas coisas.
- Senhor Ouseley, é nosso dever tornar a sua provação o menos penosa possível - disse a rapariga a Frank. Nunca pensara que uma pessoa da idade dela pudesse falar num tom tão compreensivo. - Estamos aqui para o ajudar a superar a sua perda, por isso ocupar-nos-emos de tudo o que desejar. Estamos aqui para o servir. À sua inteira disposição.
Frank disse para consigo que ela era demasiado jovem para receber os clientes, tomar as disposições necessárias e vender a prestação de serviços oferecidos pela agência funerária Markham & Swift. Parecia não passar dos dezasseis anos, embora já tivesse provavelmente mais de vinte e apresentara-se como sendo Arabella Agnes Swift, a bisneta mais velha do fundador. Apertara-lhe calorosamente a mão e conduzira-o ao seu gabinete que, por respeito para com as pessoas que geralmente recebia, era o menos formal possível. Mais parecia a sala de uma avó, com um sofá e dois maples, uma mesinha pequena e fotografias da família sobre a pedra da falsa lareira, onde cintilava um aquecedor eléctrico. A fotografia de Arabella encontrava-se entre as outras, envergando a toga do fim do curso universitário. Fora por ela que Frank calculara a sua idade.
A jovem esperava delicadamente que ele lhe respondesse. Colocara discretamente um volume de capa de cabedal sobre a mesinha, dentro do qual estariam sem dúvida as fotografias dos caixões propostos aos familiares dos defuntos. Tinha no colo um caderno de espiral, mas não pegara na caneta que colocara em cima quando se foi sentar junto dele no sofá. Era sem sombra de dúvidas, uma profissional moderna e nada tinha da personagem lugubremente dickensiana que Frank esperara encontrar por detrás das portas da Agência Funerária Markham & Swift.
- Se preferir, poderemos também realizar a cerimônia aqui na nossa capela - disse ela num tom bondoso. - Há pessoas que não freqüentam regularmente a igreja e que preferem uma abordagem mais agnóstica do funeral.
- Não - disse Frank por fim.
- Deseja então realizar o serviço religioso numa igreja? Posso tomar nota do nome? E também do nome do sacerdote?
- Não quero cerimônia - disse Frank. - Nem serviço fúnebre. Ele não o desejaria. Quero... - Frank deteve-se. Quero não era maneira de apresentar as coisas. - Ele preferia ser cremado. Pode tratar disso, não é verdade?
- Sim, é claro - garantiu-lhe Arabella. - Trataremos de tudo e enviaremos o corpo para o crematório. Só precisa de escolher a urna. Deixe-me mostrar-lhe... - Inclinou-se e ele sentiu o perfume dela, uma fragrância agradável que seria provavelmente um consolo para quem precisava de ser consolado. Até mesmo ele, que não necessitava de condolências, se recordou de quando a mãe o apertava contra o peito. Interrogou-se como saberiam os fabricantes de perfume qual o odor que produz uma rápida viagem da memória.
- Há gêneros diferentes - continuou Arabella. - Pode fazer a sua escolha dependendo com o que tenciona fazer com as cinzas. Há pessoas que sentem algum consolo em ficar com elas, enquanto outras...
- Não quero uma urna - interrompeu-a Frank. - Levo as cinzas tal como elas chegarem. Numa caixa. Num saco. Conforme chegarem.
- Pois muito bem. - O seu rosto ficara impassível. Quem era ela para comentar o modo como as pessoas queriam dispor dos restos mortais dos seus entes queridos e tinha experiência suficiente para saber que a decisão de Frank não traria à Mark &. Swift o lucro a que estavam habituados. Mas o cliente não tinha nada com isso.
As disposições foram tomadas rapidamente e com um mínimo de complicação. Pouco tempo depois já Frank estava atrás do volante do Peugeot descendo Brock Road e dirigindo-se para o porto de St. Sampson.
O processo fora mais simples do que pensara. Primeiro saíra de casa para ir deitar uma olhadela ao conteúdo das outras duas habitações e para as fechar à chave para a noite. Depois regressara para o pé do pai que continuava estendido, sem se mover em baixo da escada. Gritara: "Pai! Valha-me Deus! Disse-lhe que nunca subisse..." e correu para o lado dele. Viu que a respiração do pai era muito fraca, praticamente inexistente. Frank andou para cá e para lá e consultou o relógio. Dez minutos depois marcou o número da emergência médica. Disse o que se passava e ficou à espera.
Graham Ouseley morreu antes de a ambulância ter chegado ao Voulin dês Niaux. Enquanto a sua alma passava da terra para o julgamento final, Frank deu por si a chorar pelos dois e pelo que tinha perdido e fora assim que os paramédicos o haviam encontrado: a chorar como uma criança, embalando a cabeça do pai, onde um único hematoma marcava o local em que a testa tinha batido nas escadas.
O médico pessoal de Graham veio imediatamente e pôs uma mão pesada no ombro de Frank. O doutor Langlois informou-o de que o pai teria morrido rapidamente. Tivera provavelmente um ataque de coração ao tentar subir as escadas. Exagerara o esforço mas, tendo em conta as poucas marcas que tinha no rosto... era muito provável que já estivesse inconsciente ao bater no degrau de madeira e que morrera logo a seguir sem sequer se aperceber do que lhe tinha acontecido.
- Eu tinha ido fechar as outras casas porque era de noite - explicou Frank, sentindo as lágrimas secarem e deixarem-lhe a pele a arder em redor dos olhos. - Quando eu voltei... Sempre lhe disse para não tentar...
- Estes velhos são muito independentes - disse Langlois. - Tenho visto muitos casos assim. Sabem que não estão capazes, mas não querem ser um perigo para ninguém, por isso não pedem ajuda quando precisam. - Apertou o ombro de Frank. - Pouco teria podido fazer por ele, Frank.
Deixou-se ficar enquanto os paramédicos trouxeram a maça e ainda um pouco mais depois de terem levado o corpo. Frank sentira-se obrigado a oferecer-lhe chá e, quando o médico lhe confidenciou, "Mas não dizia que não a um uísque", foi buscar a garrafa, serviu-lhe um Oban Single Malt e viu o outro homem bebê-lo com ar de apreciador.
- Quando um pai desaparece assim de repente é sempre um choque - disse Langlois antes de partir. - Mesmo que estejamos muito bem preparados. Mas ele tinha... Noventa?
- Noventa e dois.
- Noventa e dois. Ele deveria estar preparado. As pessoas dessa idade estão, sabe. Há meio século tinham de estar preparadas. Suponho que pensasse que cada dia que vivesse depois de mil novecentos e quarenta era uma dádiva de Deus.
Frank desejava desesperadamente que o médico se fosse embora, mas Langlois continuava a tagarelar, dizendo-lhe aquilo que ele menos desejava ouvir: que o molde em que pessoas como Graham Ouseley tinham sido feitas havia muito que se quebrara; que Frank se deveria alegrar por ter tido um pai assim e durante tantos anos, porque afinal ele também já não era muito novo; que Graham deveria ter-se sentido orgulhoso por o ter tido como filho e por ter vivido em paz e harmonia com ele até à morte; que o amor e dedicação que Frank sempre demonstrara para com o pai deveriam ter representado muito para Graham...
- Guarde tudo isso dentro de si, Frank - dissera-lhe Langlois solenemente. Depois partira deixando Frank subir para o quarto, sentar-se na cama e depois deitar-se, para esperar de olhos secos a chegada do futuro.
Agora, tendo chegado a South Quay, encontrava-se encurralado em St. Sampson. Atrás dele acumulava-se o trânsito da Bridge, à medida que, tendo terminado as suas compras, as pessoas deixavam o centro comercial e regressavam a casa, e à sua frente estendia-se uma fila até Bulwer Avenue. Aí, no cruzamento, um camião articulado tinha provavelmente feito uma curva muito apertada para South Quay e estava atravessado na estrada, enquanto uma quantidade enorme de veículos tentava passar, com muito pouco espaço de manobra e demasiadas pessoas a oferecer conselhos. Ao ver isto, Frank voltou o Peugeot para a esquerda, dirigiu-se à beira do cais onde estacionou voltado para a água.
Saiu do carro.
As paredes de granito do ancoradouro do porto abrigavam poucos barcos naquela época do ano e a água de Dezembro que batia contra as pedras tinha a vantagem de estar livre das manchas de óleo do pino do Verão, deixadas pelos descuidados utilizadores de barcos que se tornavam num constante aborrecimento para os pescadores da terra. Do outro lado, no extremo norte da Bridge, o estaleiro ecoava com a sua cacofonia de ruídos de martelos, maçaricos, raspadeiras e o praguejar dos operários - enquanto os navios trazidos para a doca seca eram inspeccionados para a futura estação. Embora Frank conhecesse exactamente cada ruído e como cada um deles se relacionava com o trabalho que era feito com os barcos, substituiu-o e resolveu considerar o bater dos martelos no das botas a pisar as pedras da rua, o das raspadeiras no armar das espingardas, o do praguejar nas ordens dadas - compreensíveis em quaisquer língua, quando era altura de disparar.
Nem mesmo agora, quando mais precisava, conseguia libertar a mente das histórias: tinham sido cinqüenta e três anos a ouvi-las, repetidas, mas sem nunca se cansar e nunca até àquele momento tinham sido mal recebidas. Mas mesmo assim, quer quisesse quer não, lembrava-se delas: 28 de Junho de 1940, 6: 55 da tarde. O ruído firme dos aviões que se aproximavam e o medo e a confusão cada vez maiores das pessoas que se tinham reunido no porto em St. Peter Port para ver partir o vapor do correio, como era seu costume, e, entre aquelas cujos camiões estavam em bicha para depositar as suas cargas de tomate nos porões dos navios... Havia muita gente naquela zona e após a sua passagem os aviões deixaram para trás uma multidão de mortos e feridos. As bombas incendiárias e os fortes explosivos lançados sobre os camiões tinham-nos feito rebentar enquanto as metralhadoras disparavam indiscriminadamente sobre todos. Homens, mulheres e crianças.
Depois começaram as deportações, os interrogatórios, as execuções, a escravização. Tal como a caça à mínima suspeita de sangue judeu e as inúmeras proclamações e mandatos. Trabalhos forçados por isto e fuzilamentos por aquilo. Imprensa censurada, cinema censurado, informações censuradas, espíritos censurados.
Os negociantes do mercado negro apareceram para se aproveitar da miséria dos seus conterrâneos. Surgiram heróis inesperados entre os agricultores com receptores de rádio escondidos nos celeiros. Um povo reduzido a ter de batalhar para arranjar comida e combustível, marcava passo em circunstâncias aparentemente esquecidas pelo resto do mundo, enquanto a Gestapo se movimentava entre eles, observando, escutando, à espera para atacar quem quer que fizesse um movimento em falso.
As pessoas morriam, Frankie. Aqui nesta ilha, as pessoas sofriam e morriam por causa dos boches. E algumas pessoas combateram-nos como puderam. Por isso, filho, nunca te esqueças. Orgulha-te. Vens de uma raça que conheceu os piores tempos e sobreviveu para os descrever. Nem todos os rapazes podem dizer o que aconteceu aqui na ilha, Frank.
A voz e as recordações. A voz que continuamente insulava as recordações. Frank não se conseguia livrar nem de uma nem das outras. Sentiu que seria perseguido por elas o resto da vida. Que se poderia afogar nas águas do Lethes mas que nem elas lhe limpariam o espírito.
Os pais não deviam mentir aos filhos. Se tinham decidido ser pais deveriam passar-lhes as verdades da vida que a experiência lhes tinha ensinado. Em quem mais podia um filho confiar senão no próprio pai?
Era nisso que Frank pensava enquanto se encontrava sozinho no cais, olhando para a água mas vendo nela um reflexo da história que tinha moldado implacavelmente uma geração de habitantes da ilha. Lembrou-se da confiança, o único presente que uma criança pode dar à distante e maravilhosa figura do pai. Graham recebera-a com satisfação e depois abusara tremendamente dela. O que dela restava era a frágil renda de uma relação construída de palha e cola, tendo sido destruída pelo vento áspero da revelação. A própria estrutura insubstancial poderia nem sequer ter existido.
Ter vivido mais do que meio século a fingir que não era responsável pelas mortes de homens de bem... Frank não sabia como conseguia retirar um sentimento de ternura pelo pai dos detritos podres que aquele facto deixara na esteira da vida de Graham Ouseley. Sabia que agora não o podia fazer. Talvez um dia... se chegasse à mesma idade... se nessa altura olhasse a vida de um modo diferente...
Atrás de si a fila de trânsito começou por fim a andar. Voltou-se e viu que o camião conseguira finalmente dar a volta. Entrou no carro e meteu-se entre os outros veículos que saíam de St. Sampson. Dirigiu-se juntamente com eles para St. Peter Fort aumentando a velocidade quando por fim deixou a zona na Bulwer Avenue e se meteu na estrada que atravessava Belle Greve Bay.
Tinha de fazer uma nova paragem antes de regressar a Talbot Valley, por isso seguiu para sul, com a água à sua esquerda e St. Peter Port erguendo-se como uma fortaleza cinzenta construída em terraços. Meteu-se por entre as árvores em Lê Vai dês Terres e estacionou em Fort Road menos de quinze minutos depois da hora em que combinara aparecer em casa dos Debieres.
Teria preferido evitar uma nova conversa com Nobby. Mas quando o arquitecto lhe telefonou e foi tão insistente, os seus habituais remorsos foram motivação suficiente para que Frank dissesse: "Muito bem. Lá estarei", e dissesse a hora em que provavelmente apareceria.
Foi o próprio Nobby que abriu a porta e levou Frank para a cozinha onde, na ausência da mulher, estava a fazer o lanche dos filhos. A divisão estava insuportavelmente quente e Nobby tinha o rosto suado. Havia no ar um forte cheiro a douradinhos. Da sala chegava-lhes o ruído de um jogo de computador com explosões rítmicas, mostrando que o jogador matava continuamente os maus.
- A Caroline está na cidade. - Nobby curvou-se para inspeccionar um tabuleiro que tirou do forno. Aqueles douradinhos libertavam um odor pestilento. - Como podem suportar estas coisas? - Fez uma careta.
- Comem qualquer coisa de que os pais não gostem - comentou Frank. Nobby pôs o tabuleiro na bancada e utilizou uma colher de pau para
os passar para uma travessa. Tirou do frigorífico num pacote de batatas fritas congeladas espalhou-as no tabuleiro e voltou a meter este no forno. Entretanto uma panela fervia no fogão, lançando uma nuvem de vapor fantasmagórico.
Nobby mexeu o que lá estava dentro e retirou uma colher de ervilhas. Eram de uma cor verde pouco natural, como se tivessem sido pintadas. Olhou-as com ar duvidoso e voltou a metê-las na água a ferver.
- Ela devia cá estar para fazer isto - disse ele. - Fica tudo melhor. Sou um inútil.
Frank sabia que o seu antigo aluno não lhe tinha telefonado para uma lição de culinária, mas também sabia que não seria capaz de se agüentar durante muito tempo naquela cozinha demasiado aquecida. Resolveu ajudar e procurou um passador para escorrer as ervilhas, cobrindo-as a elas e aos horríveis douradinhos com folha de alumínio enquanto as batatas ficavam prontas. Depois, abriu a janela da cozinha e perguntou, enquanto o outro começara a pôr a mesa para os filhos:
- Porque querias falar comigo, Nobby?
- Ela está na cidade - respondeu ele.
- Já disseste.
- Foi concorrer a um emprego. Pergunte-me onde.
- Está bem. Onde?
Nobby soltou uma gargalhada completamente desprovida de humor.
- No Citizens Advice Bureau1. Pergunte-me o que ela vai fazer.
- Nobby... - Frank estava cansado.
- Vai escrever aqueles malditos panfletos - disse Nobby soltando outra gargalhada, desta vez num tom mais alto e um pouco violento. Passou da Architectural Review para o Citizens Advice. A culpa é minha. Fui eu que lhe disse que se despedisse. Vais escrever o teu livro, disse-lhe eu. Vai atrás do teu sonho. Tal como eu fiz.
- Lamento o que aconteceu - disse Frank. - Nem sabes como o lamento.
1 Organismo de utilidade pública encarregado de informar os consumidores sobre tudo o que diz respeito às questões sociais. [N. da T]
- Provavelmente não sei. Mas foi um verdadeiro pontapé no rabo. Foi tudo para nada, desde o princípio. Já se apercebeu disso? Ou sempre soube?
Frank franziu a testa.
- Como? O que era...
Nobby tinha posto um dos aventais da mulher. Tirou-o e poisou-o nas costas de uma cadeira. Parecia ter um prazer perverso naquela conversa e esse prazer aumentou com o que revelou a seguir. As plantas que Guy mandara vir da América eram falsas, disse. Vira-as ele e não eram legítimas. Nem sequer eram a planta para um museu. O que é que Frank Ouseley pensava do assunto?
- Não tencionava construir o museu - informou-o Nobby. - Era apenas um jogo. Uma espécie de bowling. Nós éramos os pinos para ele derrubar. O senhor, eu, o Henry Moullin e outras pessoas que ele pudesse ter envolvido. Fez subir as nossas esperanças como um balão para nos ver estrebuchar e implorar quando este começou a perder o ar. Foi o que aconteceu. Mas o jogo só chegou para mim. Depois o Guy foi morto e vocês ficaram sem saber como realizar os vossos projectos sem a "bênção" dele. Mas eu queria que o senhor soubesse. Não faz sentido ter sido o único a receber os proveitos do sentido de humor do Guy.
Frank esforçou-se por digerir aquelas informações. Ia em contrário de tudo o que soubera a respeito de Guy e do que provinha da sua experiência como amigo dele. A morte de Guy e os termos do seu testamento tinham de facto posto um ponto final no museu. Mas que ele nunca tivesse tido intenções de o construir... Frank não podia dar-se ao luxo de pensar em tal coisa naquele momento. Nem nunca. Os custos seriam demasiado altos.
- As plantas... As plantas trazidas pelos americanos...
- Eram umas aldrabices completas - disse Nobby, satisfeito. - Eu vi-as. Um homem de Londres trouxe-mas cá. Não sei quem as desenhou ou para que são, mas de certeza não se destinavam a um museu situado no caminho de St. Saviour's Church.
- Mas ele teve de... - De quê? interrogou-se Frank. Ele teve de quê? Pensar que alguém iria olhar mais de perto para a planta? Quando? Naquela noite? Revelara o hábil desenho de um edifício que declarara ter sido seleccionado, mas ninguém pensara em lhe pedir para ver a planta.
- Deve ter sido enganado - disse Frank. - Porque tencionava construir aquele museu.
- com que dinheiro? - perguntou Nobby. - Tal como já me disse o testamento não deixou um cêntimo para construir fosse o que fosse, Frank, e não deu à Ruth instruções para o custear, caso alguma coisa lhe acontecesse. Não. O Guy não foi enganado. Mas nós fomos. Muitos de nós. E fomos todos na história.
- Tem de haver um engano qualquer. Um mal-entendido. Talvez tivesse feito recentemente um mau investimento e perdesse os fundos que tencionava utilizar na construção do museu. Não gostaria de o admitir... Não gostaria de perder a face perante a comunidade, por isso continuou para que ninguém soubesse...
- Acha que sim? - Nobby não fez qualquer esforço para esconder a sua incredulidade. - Acha mesmo?
- De que outra maneira podes explicar... As engrenagens já estavam em movimento, Nobby. Ter-se-ia sentido responsável. Tu deixaste o emprego e estabeleceste-te por conta própria. O Henry investiu no vidro. A história apareceu no jornal e havia expectativas nas pessoas. Se perdeu dinheiro, teria de confessar ou prosseguir com a construção na esperança de que, com o tempo, as pessoas perdessem o interesse... se demorasse bastante.
À mesa, Nobby cruzou os braços.
- Acredita mesmo nisso? - Aquele tom de voz sugeria que o seu antigo aluno se tinha transformado no mestre actual. - Sim, de facto entendo que precise de se agarrar a essa crença.
Frank pensou ter visto uma centelha de compreensão no rosto de Nobby: o facto de ele - possuidor de centenas de objectos do tempo da guerra - não desejar que esse material visse alguma vez a luz do dia. E embora isso fosse de facto verdade, não havia maneira de Nobby Debiere o saber. O assunto era demasiado complicado para que ele o tivesse deduzido. Para ele, Frank Ouseley não passaria de mais um membro desiludido de um pequeno grupo que colocara as suas esperanças num projecto que falhara completamente.
- Confesso que estou chocado - disse Frank. - Não consigo acreditar. Deve haver certamente uma explicação.
- Acabei de lha dar. Só desejava que o Guy aqui estivesse para poder gozar do resultado das suas maquinações. Olhe. Deixe-me mostrar-lhe. - Nobby dirigiu-se a um canto da bancada, onde a família guardava o correio. Ao contrário do resto da casa era um local desordenado, com pilhas de cartas, revistas, catálogos e listas telefônicas. Nobby retirou uma única folha de papel debaixo do monte.
Frank viu que se tratava de um projecto de publicidade. Nele uma caricatura de Nobby Debiere encontrava-se sentada a um estirador onde estavam espalhados vários tipos de desenhos. Junto aos pés do boneco havia rolos parcialmente abertos com outros desenhos. O panfleto indicava que Nobby Debiere ia abrir uma empresa de projectos e restauração ali mesmo em Fort Road.
- Claro que tive de despedir a minha secretária - disse Nobby com uma alegria forçada, de causar arrepios. - Também ela ficou desempregada, coisa que sem dúvida muito teria agradado ao Guy se tivesse vivido o suficiente para ver acontecer.
- Nobby...
- vou passar a trabalhar em casa, como vê, o que claro é excelente, pois provavelmente a Caroline vai passar a maior parte do tempo na cidade. Quando me despedi queimei todas as possibilidades de emprego na empresa onde trabalhava, mas sem dúvida, com o tempo, posso ser contratado por outra se não for completamente posto de lado. Sim. É maravilhoso ver o que está a acontecer, não acha?
Tirou o panfleto da mão de Frank e meteu-o amachucado por baixo da lista telefônica.
- Lamento que as coisas se tenham passado deste modo - disse Frank.
- Sem dúvida foi melhor assim - disse Nobby. - Pelo menos para uma pessoa qualquer.
Capítulo 27
- JAMES ENCONTROU RUTH BROUARD NA SUA ESTUFA. ERA MAIOR DO que à primeira vista lhe parecera no dia do funeral e o ar estava húmido e quente. Como tal, a condensação escorria pelo vidro e essa água e a do sistema de irrigação, pingava com regularidade sobre as folhas largas das plantas tropicais e sobre o caminho de pedra que serpenteava por entre elas.
Ruth Bruard estava no meio daquela casa de vidro onde os tijolos se alargavam para formar uma zona de repouso circular, suficientemente grande para acomodar uma cadeira de estender, uma cadeira de verga branca, uma mesa do mesmo material e um pequeno lago onde flutuavam lírios. Ela estava no divã com as pernas sobre uma almofada de tapeçaria. Havia um tabuleiro de chá sobre a mesa e tinha um álbum de fotografias aberto no colo.
- Perdoe-me o calor - disse-lhe Ruth, apontando para o radiador colocado sobre os tijolos para aquecer ainda mais a estufa. - Para mim é um consolo. Não altera muito o decorrer das coisas, mas tenho a impressão de que me faz bem.
Olhou para a tela que ele trazia bem enrolada debaixo do braço mas nada disse. Convidou-o a puxar uma cadeira para mais perto de modo a poder mostrar-lhe "quem nós éramos".
St. James viu que o álbum ilustrava os anos que os Brouard tinham passado em Inglaterra com famílias de acolhimento. Nele apareciam fotografias de um rapaz e de uma rapariga durante o tempo da guerra e do pós-guerra em Londres, sempre juntos, sempre sérios a olhar para as lentes das máquinas fotográficas. Tinham crescido mas a expressão solene de ambos mal se alterara quando posavam diante de uma porta, de um portão, no jardim ou à lareira.
- Ele nunca me esqueceu - disse Ruth Brouard voltando as páginas. Nem sequer ficámos com a mesma família e eu ficava aterrorizada de cada vez que ele partia: podia não regressar, podia acontecer-lhe alguma coisa e eu não saberia. Um dia podia deixar de aparecer. Mas ele disse que isso não havia de acontecer e, mesmo que acontecesse, eu haveria de saber. Haveria de o sentir, disse ele. Eu sentiria um movimento do universo, por isso, a menos que tal acontecesse, não deveria preocupar-me.
Ela fechou o álbum e pô-lo a seu lado.
- Mas não senti nada, senhor St. James, sabe. Quando ele foi para a praia, não senti nada, senhor St. James. - St. James entregou-lhe o quadro. - Mas foi uma felicidade ter encontrado isto - disse em voz baixa, quando o recebeu. - De certa maneira é como se recebesse de novo a minha família. - Colocou a tela sobre o álbum. - Também quer falar comigo? - perguntou.
Ele sorriu.
- Tem a certeza de que não é feiticeira, Miss Brouard?
- Absoluta - replicou. - Precisa de mais alguma coisa da minha pessoa, não é verdade?
Ele admitiu-o. Pelo modo de falar e de agir de Ruth Brouard, St. James tinha a certeza de que ela ignorava o valor do quadro que o irmão conseguira recuperar. Nesse momento nada fez para a esclarecer mas tinha o pressentimento de que a sua importância não seria alterada ao saber que se tratava da obra de um mestre.
- Pode ter razão em pensar que o seu irmão deve ter gasto grande parte da sua fortuna a tentar localizar isto. Mas eu gostaria de verificar as contas dele para ter a certeza. A senhora tem aqui os registos, não é verdade?
Ela disse que sim. Que Guy guardava as suas contas no escritório. Se o senhor St. James quisesse vir com ela, mostrava-lhas com todo o gosto. Levaram a tela e o álbum, embora Ruth, na sua inocência, estivesse disposta a deixar os dois objectos na estufa para mais tarde os vir buscar.
No escritório do irmão, acendeu os candeeiros pois a luz do dia já declinava. Para espanto de St. James retirou de um armário ao lado da secretária um antiquado livro de contas de capa de couro. Ela viu a reacção de St. James e sorriu.
- Geríamos a contabilidade dos hotéis por computador - disse ela. Mas o Guy era antiquado no que dizia respeito às suas finanças pessoais.
- Parece-me... - St. James procurou um eufemismo. Ela ajudou-o.
- Anacrônico. Muito pouco à maneira do Guy. Mas nunca se entendeu bem com computadores. Em termos de tecnologia nunca passou dos telefones de teclas e dos fornos de microondas. Mas isto é fácil, vai ver. O Guy registava tudo.
Enquanto St. James se sentava à secretária e abria o registo, Ruth trouxe mais dois livros. Explicou que cada um cobria três anos das despesas do irmão. Não eram muitas, pois grande parte do dinheiro estava no nome dela e era das suas contas que eram pagas as despesas de manutenção da propriedade.
No último livro de registos, St. James viu como tinham sido os últimos três anos de Guy Brouard. Não levou muito tempo a perceber o padrão dos seus gastos durante esse tempo e esse padrão aparecia como A-n-a-i-s A-b-b-o-t-t. De vez em quando, Brouard transferia fundos para a sua amante, tendo-lhe pago tudo desde uma cirurgia plástica a impostos, a hipoteca da casa, férias na Suíça e no Belize e as propinas da filha na escola de manequins. Para além disso, tinha havido despesas para um Mercedes-Benz, mais dez estátuas identificadas pelo nome de um artista e um título, um empréstimo a Henry Moullin que designara como "fornalha" e aquilo que pareciam ter sido empréstimos ou presentes ao filho. Mais recentemente comprara um lote de terreno em St. Saviour e fizera pagamentos a Bertrand Debiere bem como a De Carteret Cabinet Design, Tissier Electric e Burton-Terry Plumbing.
Por eles, St. James concluiu que Brouard tencionara a princípio construir o museu da guerra e até a dar o projecto a Debiere. Mas todos os pagamentos que poderiam estar remotamente ligados a um edifício público tinham cessado havia cerca de nove meses. Depois, em lugar da cuidadosa contabilidade que Brouard vinha a fazer, a página terminava com uma lista de números que prosseguia na seguinte, todos incluídos em parênteses, mas sem que o destinatário fosse identificado. Mesmo assim St. James calculava que este fosse a International Access. Os números correspondiam àqueles que o banco tinha fornecido a Lê Gallez. Reparou que o último pagamento - o maior de todos - fora transferido de Guernsey no dia em que os irmãos River tinham chegado à ilha.
St. James pediu uma calculadora a Ruth Brouard e ela foi buscá-la à gaveta da secretária do irmão. Somou a lista dos débitos aplicados no destinatário anônimo. Totalizava mais de dois milhões de libras.
- com quanto dinheiro começou o seu irmão quando se estabeleceram aqui? - perguntou a Ruth. - A senhora disse-me que ele tinha posto quase tudo no seu nome, mas que guardara alguma coisa para as suas despesas pessoais, não foi. Tem idéia de quanto era?
- Vários milhões de libras - disse ela. - Pensou que poderia viver muito bem dos juros uma vez que esse dinheiro fosse investido. Porquê? Há alguma coisa de...
Não acrescentou errado, pois não seria preciso. Desde o princípio que poucas coisas pareciam estar certas na autópsia às finanças do irmão.
O toque do telefone salvou St. James de ter de lhe dar uma resposta imediata. Ruth atendeu naquela extensão e entregou o telefone a St. James.
- Parece que não conseguiste cair nas boas graças da recepcionista do hotel - disse-lhe de Londres Thomas Lyndley. - Quer convencer-te a comprar um telemóvel. Fiquei de te dar o recado.
- Afirmativo. Já descobriste alguma coisa?
- Descobri. É uma situação intrigante, mas não creio que gostes daquilo que tenho para te dizer. Vai confundir a tua investigação.
- Deixa-me adivinhar. Não existe uma International Access em Blacknell.
- Exactamente. Telefonei a um antigo colega de Hendon. Trabalha na polícia de costumes dessa zona. Foi à morada da International Access e encontrou um solário. Há oito anos que lá funciona... parece que o negócio é muito bom em Bracknell...
- vou anotar para futuras referências.
- e declararam não fazer a mínima idéia do que o meu amigo estava a falar. Isto causou nova discussão com o banco. Falei na Inspecção de Finanças e decidiram-se então a dar mais informações sobre a conta da International Access. Parece que o dinheiro transferido de Guernsey para essa conta foi, por sua vez, transferido quarenta e oito horas depois para um local chamado Jackson Heights em Queens, Nova Iorque.
- Jackson Heights? Será...
- É a localização, não o nome em que está a conta.
- Soubeste o nome?
- Vallera & Son.
- Uma espécie de firma?
- Parece que sim. Mas não sabemos de que espécie. E o banco também não. A função deles não é perguntar, etc. etc. Mas parece... bom, já sabes o que parece: uma coisa para aguçar o apetite pela investigação no governo americano.
St. James observou o desenho do tapete que tinha debaixo dos pés. Sentiu junto a si a presença de Ruth Brouard, ergueu os olhos e viu que também ela o fitava com ar sério, mas imperscrutável.
Desligou depois de Lynley lhe garantir que estava tudo a andar para conseguirem falar ao telefone com alguém da Vallera & Son, embora acautelasse St. James para que não esperasse qualquer cooperação do outro lado do Atlântico.
- Se isto é o que parece, podemos estar num beco sem saída, a menos que interesse a um grupo capaz de fazer pressão. Finanças. FBI. Polícia de Nova Iorque.
- Deveria ser suficiente - comentou St. James, acerbo. Lynley soltou uma gargalhada.
- Depois digo qualquer coisa. - E desligou.
Depois de poisar o auscultador, St. James levou uns instantes a reflectir nas implicações daquilo que Lynley lhe acabara de dizer. comparou-o com tudo o mais que sabia e não gostou das conclusões que conseguia tirar.
- Que se passa? - perguntou-lhe por fim Ruth Brouard. Ele estremeceu.
- Miss Brouard, será que ainda tem a embalagem em que chegaram as plantas do museu?
A princípio, Deborah St. James não viu o marido quando atravessou os arbustos. Era já ao crepúsculo e vinha a pensar no que vira dentro do monte pré-histórico onde Paul Fielder a tinha levado. Mais do que isso, pensava no que significaria o rapaz ter a combinação do cadeado e estar tão decidido a ocultá-la.
Por isso só viu Simon quando estava mesmo junto dele. O marido estava ocupado no lado oposto dos três anexos mais próximos da casa grande a examinar com um ancinho o lixo de quatro caixotes que já tinha despejado.
Deteve-se quando ela o chamou pelo nome e lhe perguntou se ia mudar de profissão.
- É uma idéia - disse ele sorrindo - Mas vou limitar-me ao lixo das estrelas pop e dos políticos. Que descobriste?
- Muita coisa.
- O Paul falou-te no quadro? Muito bem, amor.
- Não tenho bem a certeza de que ele saiba falar - admitiu ela. - Mas levou-me ao local onde o tinha encontrado embora a princípio eu pensasse que ele me queria prender lá dentro. - Explicou a localização e a natureza do monte onde Paul a tinha levado, incluindo o que se passara com a combinação do cadeado e o conteúdo das câmaras de pedra. Concluiu dizendo:
- Os preservativos... a cama de campanha... era óbvio a utilização que Guy Brouard dava ao local, Simon. Embora para ser franca, não perceba porque não se dedicava a essas coisas em casa.
- A irmã estava lá a maior parte do tempo - recordou-lhe St. James. E se essas actividades envolviam uma adolescente...
- No plural, se Paul Fielder fosse um deles. Suponho que sim. É tudo tão desagradável, não é? - Olhou para os arbustos, para a relva, para o atalho através do bosque. - Podes acreditar que aí estavam fora das vistas. É preciso saber da localização exacta do dólmen na propriedade para conseguir encontrá-lo.
- Mostrou-te em que parte do dólmen?
- É que encontrou o quadro? - Quando Simon acenou afirmativamente, Deborah explicou.
O marido escutou-a com um braço encostado ao ancinho, o que lhe dava um ar de agricultor. Quando ela completou a descrição do altar de pedra e da fenda lá por trás e ele percebeu que a fenda era no chão, abanou a cabeça.
- Não pode ser, Deborah. O quadro vale uma fortuna - contou-lhe tudo o que Kevin Duffy lhe dissera. - E o Brouard certamente que sabia continuou.
- Sabia que se tratava de um Hooch? Mas como? Se o quadro estava na família havia gerações, se fora passado de pais para filhos como herança de família... Como poderia saber? Tu sabê-lo-ias?
- Nunca. Mas pelo menos saberia o que pagou para conseguir reaver o quadro e foi uma quantia próxima dos dois milhões de libras. Não posso acreditar que, depois de ter feito essa despesa e de se ter dado a tanto trabalho para encontrar o quadro o depositasse, nem que fosse por cinco minutos, dentro de um dólmen.
- Mas se estava aferrolhado...
- Não é essa a questão, amor. Estamos a falar de uma tela do século dezassete. Não ia escondê-la num local onde pudesse ser danificada pelo frio e pela humidade.
- Pensas então que o Paul estava a mentir?
- Não estou a dizer isso. Estou a dizer que é pouco provável que o Brouard tenha metido o quadro numa câmara pré-histórica. Se o queria esconder até ao aniversário da irmã, como esta afirma, ou por qualquer outra razão, há dezenas de lugares dentro da sua própria casa onde o poderia ter metido sem perigo de ser danificado. - Então alguém mais... - disse Deborah.
- Creio que é a única coisa que faz sentido. - Voltou à sua tarefa com o ancinho.
- Então o que procuras? - Percebeu que a sua voz estremecera e que ele também o tinha percebido, porque quando a fitou tinha os olhos mais escuros como sempre acontecia quando estava preocupado. - A maneira como chegou a Guemsey.
Voltou a espalhar o lixo até encontrar aquilo que aparentemente procurava: um tubo grande, de oitenta centímetros de comprimento e vinte de diâmetro. Fortes tampas de metal bem presas por aros fechavam-no de ambos os lados.
Simon retirou-o do lixo e curvou-se com dificuldade para o apanhar.
Voltado de lado revelava um corte de alto a baixo na superfície do tubo. O corte fora alargado transformando-se numa incisão com bordos irregulares onde a capa exterior do tubo tinha sido forçada e aberta para revelar a sua verdadeira estrutura. Tinham ali um tubo oculto dentro de outro tubo e não seria preciso um cientista nuclear para deduzir em que fora utilizado o espaço interior.
- Ah - murmurou Simon, e olhou para Deborah. Ela soube o que ele estava a pensar, porque também ela o pensou, mesmo sem querer.
- Posso ver... - perguntou. E pegou no tubo grata por ele não ter feito qualquer comentário. Depois de inspeccionado, o tubo revelou aquilo que Deborah pensou ser um pormenor importante: a única maneira de penetrar no compartimento interior era evidentemente pela capa exterior. Os aros de cada lado do tubo tinham sido colocados de tal modo que, se fossem retirados, toda a estrutura ficaria estragada. Revelaria também a quem quer que olhasse para o tubo - o seu destinatário, ou então os funcionários da alfândega - que alguém lhe tinha mexido. No entanto, não havia qualquer marca em redor dos aros, nem numa extremidade nem noutra. Deborah fez notar aquilo ao marido.
- Já vi - disse ele. - Mas percebes o que isso quer dizer, não percebes?
Deborah sentiu-se perturbada pela intensidade da pergunta.
- O quê? Que quem trouxe isto para Guernsey não sabia...
- Não o abriu antecipadamente - interrompeu ele. - Mas isso não significa que não soubesse o que estava lá dentro, Deborah.
- Como podes dizer isso? - Sentiu-se infeliz. Uma vozinha interior e todos os seus instintos gritavam não.
- Por causa do dólmen. Da sua presença no dólmen. Guy Brouard foi morto por causa daquela tela, Deborah. É o único motivo que explica tudo o resto.
- Isso é demasiado conveniente - replicou ela. - É também nisso que devemos acreditar. Não, Simon, escuta - disse ela quando viu que ele ia começar a falar. - Estás a dizer que eles já sabiam o que estava lá dentro.
- Estou a dizer que um deles sabia. Não os dois.
- Muito bem. Um. Mas se fosse esse o caso... se quisessem...
- Ele, estou a dizer que ele queria - declarou o marido em voz baixa.
- Pronto, muito bem. Mas não estás a ver as coisas, Simon. Se ele...
- Cherokee River, Deborah.
- Sim. O Cherokee. Se ele quisesse o quadro, se ele soubesse que estava no tubo, por que diabo haveria de o trazer aqui para Guernsey? Porque não desapareceria com ele? Não faz sentido trazê-lo até aqui e depois roubá-lo. Há certamente outra explicação.
- E qual é ela?
- Acho que tu sabes. O Guy Brouard abriu esta embalagem e mostrou o quadro a outra pessoa. E foi essa pessoa que o matou.
Adrian conduzia demasiado depressa e quase pelo meio da estrada. Ultrapassava indiscriminadamente outros carros e abrandava sem razão aparente. Resumindo: conduzia com a intenção deliberada de a enervar, mas Margaret estava disposta a não deixar que ele a provocasse. O filho era muito pouco subtil. Queria que ela lhe exigisse uma condução cuidadosa para continuar a conduzir exactamente como lhe apetecia e, assim, provar-lhe, de uma vez por todas, que ela não tinha qualquer ascendência sobre ele. Era o tipo de coisas que se poderia esperar de um menino de dez anos a disputar um jogo de poder.
Adrian já a tinha enfurecido o suficiente. Margaret precisou de todo o seu autocontrolo para não o insultar. Conhecia-o suficientemente bem para saber que ele não lhe forneceria qualquer informação que decidira guardar para si porque já tinha percebido que contar à mãe fosse o que fosse, naquele momento, seria uma indicação de que ela vencera. Mas Margaret não sabia o que poderia vencer. Tudo o que sempre quisera para o filho mais velho fora uma vida normal com uma carreira bem-sucedida, uma mulher e filhos.
Seria esperar de mais? Margaret achava que não. Mas os últimos dias tinham-lhe mostrado que todas as suas tentativas para ajudar Adrian, todas as suas interferências a seu favor, as desculpas para tudo, desde o sonambulismo até àquele disparatado descontrolo da bexiga, tinham sido pérolas lançadas a porcos.
Pois então muito bem, pensou. Mas não sairia de Guemsey enquanto não lhe arrancasse uma coisa. Não se importava com as evasões dele. Vistas de uma certa maneira poderiam mesmo ser uma agradável manifestação da chegada à idade adulta. Mas as mentiras eram inaceitáveis agora e sempre. Porque as mentiras eram sinal de um espírito espantosamente fraco.
Via agora que Adrian lhe tinha provavelmente mentido durante toda a vida, por actos e omissões. Mas ela estivera tão ocupada nos seus esforços para afastar dele a influência maligna do pai que aceitara a sua versão de cada acontecimento em que ele se envolvera: desde o afogamento supostamente acidental do seu cãozinho, na noite anterior ao segundo casamento de Margaret até à razão para terminar o seu noivado. Não duvidava que ele lhe continuava a mentir. E aquele negócio da International Access era a maior aldrabice que ele já inventara.
- Ele mandou-te esse dinheiro, não mandou? - perguntou ela. - Há meses. Só gostaria de saber em que o gastaste.
- De que estás tu a falar? - perguntou ele, conforme Margaret esperava. Adrian parecia indiferente. Não. De facto, parecia enfadado.
- Apostas, não foi? Às cartas? Jogaste na bolsa como um idiota? Sei que não existe a International Access porque não saíste de casa em mais de um ano senão para visitares o teu pai ou a Carmel. Mas talvez fosse
isso, Gastaste-o com a Carmel? Compraste-lhe um carro? Jóias? Uma casa? Ele revirou os olhos.
- Claro. Foi isso mesmo que fiz. Ela concordou em casar comigo e deve ter sido porque eu estava a nadar em dinheiro.
- Não estou a brincar - disse Margaret. - Mentiste acerca do dinheiro que pediste ao teu pai; mentiste acerca do romance que a Carmel tinha com o teu pai, deixaste-me acreditar que o teu namoro tinha terminado porque querias "coisas diferentes" da mulher que concordara em casar contigo... afinal quando é que não mentiste?
Ele olhou para ela.
- Que diferença é que isso faz?
- Que diferença é que isso faz?
- Verdades ou mentiras. Só vês aquilo que queres ver. Eu só torno as coisas mais fáceis para ti. - Fez uma ultrapassagem rasante a um minivan que rolava calmamente à frente deles e tocou a buzina como um louco quando passou por ele. Retomou o lugar na sua faixa, a poucos centímetros de chocar de frente com um autocarro.
- Como diabo podes dizer uma coisa dessas? - perguntou Margaret. - Passei a melhor parte da minha vida...
- A viver a minha.
- Não é verdade. Envolvi-me como qualquer outra mãe. Preocupei-me.
- Para teres a certeza de que as coisas corriam à tua maneira.
- E - atreveu-se Margaret, decidida a que Adrian não comandasse a direcção da conversa que estavam a ter - tudo o que recebi em troca pelo meu esforço foram mentiras inaceitáveis. Mereço e exijo nada menos do que a verdade. E quero tê-la neste mesmo instante.
- Porque a mereces?
- Exactamente.
- Claro. Mas não porque te sintas naturalmente interessada.
- Como te atreves a dizer uma coisa dessas! Vim cá por ti. Expus-me à completa agonia das recordações do meu casamento...
- Oh, por favor - disse ele zangado.
- por tua causa. Para ter a certeza que obtinhas aquilo a que tinhas direito no testamento do teu pai, porque eu sabia que ele faria tudo para te prejudicar. Era a única maneira que tinha de me castigar.
- E porque estaria ele interessado em castigar-te?
- Porque acreditava que ele tinha vencido. Porque não agüentava perder.
- Vencido em quê?
- Tinha ficado contigo. Porque te afastei dele para teu bem, mas ele não conseguiu perceber isso. Só percebeu que se tratava do meu acto de vingança, porque vê-lo de outra maneira seria ter de olhar para a sua vida e compreender o efeito que ela poderia ter sobre o seu filho único se eu permitisse que ficasses exposto a ele. E ele não queria. Não queria ver. Por isso acusou-me de te ter afastado.
- Coisa que aliás nunca quiseste fazer - comentou Adrian com ar trocista.
- Claro que quis. O que querias que eu fizesse? Uma enfiada de amantes que continuou mesmo depois de ele estar casado com a JoAnna. Só Deus sabe que mais. Provavelmente orgias. Drogas. Bebida. Necrofilia e bestialidade se calhar. Sim, protegi-te de tudo isso e fazia-o outra vez. Tive toda a razão.
- É por isso que sou teu devedor - disse Adrian. - Já estou a perceber. Então diz-me. - Olhou para ela quando pararam para se meter no trânsito num cruzamento que os levaria directamente ao aeroporto. - O que queres saber exactamente?
- O que aconteceu ao dinheiro dele? Não ao dinheiro que comprou tudo aquilo que depois pôs no nome da Ruth, mas o outro dinheiro, o dinheiro que ele guardou, porque deve ter guardado um monte dele. Não pode ter tido uns romancezitos e uma mulher tão cara como a Anais Abbott só com o dinheiro que a Ruth lhe passava. Ela é demasiado moralista para financiar o estilo de vida de uma amante dessas. Por isso, em nome de Deus, o que aconteceu ao dinheiro dele? Ou ele to deu ou o escondeu algures e a única maneira de eu saber se devo continuar a tentar agir é tu dizeres a verdade. Ele deu-te o dinheiro?
- Não faças mais nada. - Foi a resposta lacônica de Adrian. Estavam a chegar ao aeroporto, onde um avião fazia a sua aproximação à pista, provavelmente o mesmo avião que abasteceria e uma hora depois levaria Margaret de volta para Inglaterra. Adrian dirigiu-se ao terminal e parou diante do edifício em vez de estacionar num dos parques. - Deixa-te disso.
Ela tentou ler-lhe a expressão do rosto.
- Isso quer dizer...
- Não quer dizer nada - disse ele. - O dinheiro desapareceu. Não vais encontrá-lo. Nem tentes.
- Como é que tu... então ele deu-to? Tiveste-o sempre? Mas se foi esse o caso, porque não disseste... Adrian, eu quero a verdade imediatamente.
- Estás a perder o teu tempo - disse ele. - A verdade é essa. Abriu a porta do carro e dirigiu-se à parte de trás do Land Rover. O ar
frio meteu-se no habitáculo, quando ele retirou as malas e as poisou no passeio com toda a sem-cerimônia. Depois dirigiu-se à porta dela. A conversa tinha terminado.
Margaret saiu, aconchegando-se mais no casaco. Ali, naquela zona desabrigada da ilha soprava um vento gelado. Esperava que assim a sua ida para Inglaterra fosse mais fácil. Esperava que em breve acontecesse o mesmo com o filho. Sabia que isso aconteceria com Adrian apesar do que ele pensava da situação e do modo como agia naquele momento. Voltaria. Era o que se passava no mundo em que viviam, no mundo que ela criara para ambos.
- Quando voltas para casa? - perguntou ela.
- Não tens nada com isso, mãe. - Retirou um cigarro do maço e tentou cinco vezes antes de conseguir acendê-lo ao vento. Qualquer pessoa teria desistido à segunda tentativa, mas o filho não. Pelo menos nesse aspecto era parecido com a mãe.
- Adrian, estou a perder a paciência contigo - disse ela.
- Vai para casa - respondeu o filho. - Não devias ter vindo.
- Mas afinal o que tencionas fazer, se não voltas para casa comigo? Ele sorriu sem qualquer prazer antes de dar a volta ao carro.
- Acredita que logo me hei-de lembrar de alguma coisa - disse-lhe do outro lado do capo.
St. James separou-se de Deborah quando subiram a rampa que levava do parque de estacionamento ao hotel. Ela mostrara-se pensativa durante todo o caminho de regresso de Lê Reposoir. Conduzira com cuidado, como sempre fazia, mas ele sabia que o seu espírito não se concentrava no trânsito, nem sequer na direcção em que viajavam. Sabia que ela pensava na explicação que lhe apresentara para o facto de uma valiosíssima tela ter sido escondida num monte de terra pré-histórico rodeado de pedras. Não poderia certamente censurá-la por isso. Também ele pensava nessa explicação, simplesmente porque não a poderia pôr de parte. Sabia que a tendência dela para ver só o que de bom havia em todas as pessoas a levava a ignorar as verdades básicas em cada uma delas, tal como a sua tendência para desconfiar de toda a gente o levava a ver as coisas como elas não eram. Por isso nenhum deles falou no caminho de regresso para St. Peter Port. Só quando se aproximaram dos degraus do hotel é que Deborah se voltou para ele como se tivessem tomado uma espécie de decisão.
- Não entro ainda. vou dar uma volta.
Ele hesitou antes de responder. Não ignorava que havia perigo de dizer alguma coisa que ela não quisesse ouvir, mas também sabia que o perigo poderia ser ainda maior se não dissesse nada numa situação em que Deborah sabia mais do que dizia como parte não totalmente desinteressada.
- Onde vais? - perguntou-lhe ele. - Não preferes tomar alguma coisa? Um chá ou assim?
A expressão dela alterou-se. Sabia o que ele queria dizer apesar dos seus esforços para não o mostrar.
- Talvez eu precise de um guarda-costas armado, Simon.
- Deborah...
- Já volto - disse ela e seguiu, não na direcção de que tinham vindo mas para Smith Street que levava à High Street e depois ao porto.
Nada podia fazer senão deixá-la ir, admitindo que sabia tanto como ela acerca da morte de Guy Brouard. Tinha apenas suspeitas que ela parecia não estar disposta a partilhar.
Assim que entrou no hotel ouviu que o chamavam e viu que a recepcionista lhe estendia um papel por trás do balcão. Viu que ela escrevera "Super Linley" na mensagem, certamente para se referir ao posto do amigo na Scotland Yard e que não deveria deixar de divertir o superintendente interino, apesar de ela ter escrito mal o apelido dele.
- Ele disse para o senhor comprar um telemóvel - acrescentou com ar entendido.
Já no quarto, St. James não ligou imediatamente para Lynley. Dirigiu-se à secretária que ficava por baixo da janela e marcou outro número.
Da Califórnia, informaram-no de que Jim Ward estava ocupado numa reunião de sócios, infelizmente não no escritório mas no hotel Ritz Carlton.
- Na costa - disse-lhe em tom importante uma mulher que se identificara: - Southby, Strange, Willow & Ward. Fala Crystal. Estão todos incomunicáveis - acrescentou. - Mas eu posso ficar com o recado.
St. James não tinha tempo de esperar que o recado fosse passado ao arquitecto, por isso perguntou à jovem que parecia estar a mastigar aipo, se ela o podia ajudar.
- No que eu puder - disse ela em tom alegre. - Também estou a estudar para ser arquitecta.
Teve sorte quando lhe perguntou pelas plantas que Jim Ward enviara para Guernsey. Não fora assim há tanto tempo que os documentos tinham saído dos escritórios da Southby, Strange, Willow & Ward e afinal Crystal estava encarregada de todo o correio, UPS, FedEx, DHL e até de enviar desenhos pela Internet. Como aquela situação fora radicalmente diferente, lembrava-se perfeitamente e teria todo o prazer em lhe explicar... se ele esperasse um momento, "porque tinha outra chamada em linha". Ele esperou e, daí a pouco, voltou a ouvir a voz agradável da jovem. De maneira normal, as plantas teriam seguido para o estrangeiro via Internet, para outro arquitecto, que levaria o projecto a partir daí. Mas naquele caso, as plantas eram apenas amostras do trabalho do senhor Ward e não havia pressa em fazê-las chegar. Por isso, ela embalou-as "como sempre" e entregou-as ao advogado que apareceu para as reclamar. Sabia que era uma combinação feita entre o senhor Ward e o cliente estrangeiro.
- Um tal senhor Kiefer? - perguntou St. James. - Foi um tal senhor William Kiefer que as foi buscar?
Crystal não se lembrava do nome, mas achava que não era Kiefer. Embora... um momento... nem sequer se lembrava de o homem lhe ter dito o nome. Dissera apenas que vinha buscar as plantas que deviam seguir para Guernsey e ela entregara-lhas.
- Chegaram lá, não é verdade? - perguntou com alguma preocupação. com certeza que tinham chegado.
Como tinham sido embaladas? perguntou St. James.
A embalagem do costume, disse ela. Um tubo grande de cartão pesado.
- Não ficaram danificadas no caminho, pois não? - perguntou com igual preocupação.
Não como ela estava a pensar, disse St. James. Agradeceu a Crystal e desligou, pensativo. Marcou o número seguinte e teve êxito imediato quando perguntou por William Kiefer. Em menos de trinta segundos o advogado californiano estava ao telefone.
Negou a versão de Crystal. Não tinha mandado ninguém buscar as plantas. O senhor Brouard dissera-lhe explicitamente que, quando o projecto estivesse pronto, seria entregue no escritório por uma pessoa enviada pela firma de arquitectos. A partir daí, ele deveria tratar dos correios para que levassem as plantas da Califórnia para Guemsey. Fora o que acontecera e o que ele fizera.
- Lembra-se então da pessoa que veio da parte do arquitecto entregar as plantas? - perguntou St. James.
- Não o vi, a ele ou a ela - respondeu Kiefer. - Essa pessoa deixou o projecto com a nossa secretária. Recebi-o quando voltei do almoço.
Mandei embalá-lo, pôr-lhe a etiqueta e ficou pronto para seguir. Mas pode ser que ela se lembre... só um minuto, sim?
Durante bastante mais de um minuto, St. James foi distraído por música de fundo: Neil Diamond massacrando a língua inglesa para manter o ritmo. Quando a linha telefônica voltou à vida, St. James deu por si a falar com uma tal Cherryl Bennet.
A pessoa que trouxera as plantas para o escritório do senhor Kiefer era um homem, disse ela a St. James. E, à pergunta de se se lembrava de alguma coisa em particular a respeito dele, soltou uma gargalhadinha.
- Pode ter a certeza. Quase nunca se vê daquilo em Orange County.
- Daquilo?
- Rastas. - O homem que trouxera as plantas era das Caraíbas, revelou. - Aquelas trancinhas que lhe chegavam já calcula onde. Sandálias, calças de ganga cortadas nos joelhos e uma camisa havaiana. Ar estranho para um arquitecto, pensei eu. Mas talvez fizesse só as entregas ou assim.
Concluiu dizendo que não sabia o nome dele. Não tinham conversado. Ele tinha headphones e estava a ouvir música. Achara-o parecido com Bob Marley.
St. James agradeceu a Cherryl Bennet e desligou o telefone.
Dirigiu-se à janela e observou a vista de St. Peter Port. Pensou naquilo que ela acabara de dizer e no que aquilo poderia significar. Depois de reflectir, só conseguia chegar a uma conclusão: nada do que tinham sabido até ali era o que parecia ser.
Capítulo 28
A DESCONFIANÇA DE SIMON FOI COMO UM AGUILHÃO PARA DEBORAH. E O facto de ele atribuir provavelmente essa desconfiança a ela não ter entregue a tempo e horas o anel à polícia constituíam um aguilhão suplementar. Porém as suas dúvidas actuais não reflectiam a situação real. A verdade era que Simon nunca confiara nela. Era aquela a sua reacção reflexa a qualquer coisa que aparecesse e que lhe exigisse um pensamento adulto, pois julgava-a incapaz de os ter. Essa reacção era a ruína da relação deles, o resultado de ela se ter casado com um homem que agira anteriormente como seu segundo pai. Nem sempre regressava àquele papel nos momentos de conflito. Mas a tendência irritante que mostrava para o fazer era o suficiente para a encorajar a tomar qualquer acção com que soubesse que ele não concordava.
Foi por isso que se dirigiu aos Apartamentos Queen Margaret quando poderia ter ido ver as montras da High Street, subido a encosta dos Candie Gardens, caminhando até Castle Comet ou dando uma volta pelas lojas do centro comercial. Mas não obteve qualquer resultado da sua visita a Clifton Street. Por isso desceu as escadas que conduziam ao mercado dizendo para consigo que não andava à procura de China e mesmo que andasse qual era o problema? Eram velhas amigas e China estaria à espera de que ela lhe dissesse que a situação em que ela e o irmão se encontravam, estava a caminho de ser resolvida.
Deborah queria oferecer-lhe esse consolo. Era o menos que podia fazer.
China não estava no antigo mercado ao fundo das escadas e não estava na mercearia em que Deborah encontrara uma vez os dois River. Só quando Deborah já tinha desistido de encontrar a amiga é que a viu dobrar a esquina da High Street com a Smith Street.
Começava a subir a ladeira, resignada com a idéia de regressar ao hotel. Fez uma pausa para comprar o jornal e metia o porta-moedas dentro da mala quando viu China que acabava de sair de uma loja a meio da encosta, dirigindo-se mais para cima para o local em que a Smith Street alargava para formar uma pequena praça onde se encontrava o monumento aos mortos da Primeira Guerra Mundial.
Deborah chamou pela amiga. China voltou-se e escrutinou os transeuntes que também subiam a ladeira, empresários e empresárias bem vestidos no final de mais um dia de trabalho nos vários bancos. Ergueu a mão para a saudar e esperou que Deborah chegasse junto dela.
- Como vai isso? - perguntou quando Deborah já se encontrava junto dela para a ouvir falar. - Há novidades?
- Ainda não sabemos exactamente - disse Deborah. E depois para mudar de assunto de modo a não ser obrigada a dar-lhe pormenores, disse: - Que andas a fazer?
- Doces - respondeu ela.
- Doces?
- Andava à procura de Baby Ruths ou Butterfingers. - China deu umas palmadinhas na sua mala, onde aparentemente tinha guardado os doces.
- São os preferidos dele. Mas como não há aqui, comprei o que encontrei. Espero que mo deixem ver.
China disse-lhe que não fora possível da primeira vez que fora a Hospital Lane. Dirigira-se directamente à esquadra da polícia depois de ter deixado Deborah e o marido, mas tinham-lhe recusado o acesso ao irmão. Informaram-na que, durante o período de interrogatório de um suspeito, só o advogado o podia visitar. Naturalmente, ela deveria sabê-lo pois também estivera detida para o mesmo fim. Telefonara a Holberry. Ele dissera-lhe que faria os possíveis para que ela pudesse ver o irmão e fora isso que a fizera sair e ir à procura dos chocolates. Ia a caminho para os entregar. Olhou para a praça e para o cruzamento das estradas que ficava perto do local em que se encontravam.
- Queres vir comigo?
Deborah disse que sim. Por isso dirigiram-se juntas para a esquadra da polícia que ficava a dois minutos do ponto onde se tinham encontrado.
Na recepção um agente com ar de poucos amigos disse-lhes que Miss River não estava autorizada a ver o irmão. Quando ela afirmou que Roger Holberry tinha tratado das coisas para que ela pudesse entrar, o agente informou-a de que ele nada sabia de Roger Holberry, por isso, se as senhoras não se importassem, ele tinha trabalho para fazer.
- Chame o chefe - disse-lhe China. - O investigador. Lê Gallez. Provavelmente o Holberry entrou em contacto com ele. Disse que trataria de tudo... eu queria ver o meu irmão, está bem?
O homem não se comoveu. Informou China que, se o advogado tivesse tratado de alguma coisa com outra pessoa - fosse o inspector Lê Gallez ou a rainha do Sabá - certamente a recepção já teria sido informada. Assim, só o advogado do suspeito tinha autorização de o ver.
- Mas Holberry é o advogado dele - protestou China. O homem sorriu com ar antipático.
- Não estou a vê-lo aqui consigo - replicou olhando por cima do ombro dela.
Irritada, China ia fazer uma observação que começava por "Escute, seu...", mas Deborah interveio.
- Talvez pudesse levar uns doces ao senhor River... - perguntou calmamente ao agente.
- Esquece - disse China zangada, saindo da esquadra sem entregar as coisas.
No pátio que servia de parque de estacionamento, Deborah encontrou-a sentada na beira de um vaso, puxando furiosamente a planta.
- Sacanas - disse quando Deborah se aproximou. - O que acham eles que vou fazer? Que vou tirá-lo lá de dentro?
- Talvez consigamos ir falar com o Lê Gallez.
- Tenho a certeza que ele ficaria encantado em fazer-nos o favor. China atirou com uma mão-cheia de folhas para o chão.
- Perguntaste ao advogado como vão as coisas.
- "Tão bem como se pode esperar tendo em conta as circunstâncias" - replicou China. - O que deveria fazer-me sentir melhor, mas que pode significar qualquer coisa e eu não sei. Aquelas celas são uma merda, Deborah. Paredes nuas, chão nu, um banco de madeira que eles tratam de transformar em cama se é preciso passar lá a noite. Uma sanita de aço inoxidável. Um lavatório de aço inoxidável. E aquela imóvel porta azul. Nem uma revista, nem um livro ou um pôster, um rádio, um livro de palavras cruzadas ou um baralho de cartas. Vai ficar maluco. Não está preparado... não é o gênero... Meu Deus. Eu fiquei tão contente quando saí. Não conseguia respirar lá dentro. Até a prisão é melhor. E ele não pode de modo algum... - pareceu fazer um esforço por falar mais devagar. 537
Preciso de mandar vir a minha mãe. Ele havia de a querer aqui e, se eu fizer isso, achar-me-ei menos culpada de me sentir aliviada por ser outra pessoa e não eu que está lá dentro. Jesus. Em que foi que me tornei?
- Faz parte da natureza humana sentires-te aliviada por teres saído - disse Deborah.
- Se eu tivesse entrado para o ver, para ter a certeza de que ele estava bem.
China mudou de lugar e Deborah pensou que ela estivesse disposta a atacar de novo a esquadra da polícia. Contudo, Deborah sabia que seria inútil, por isso levantou-se.
- Vamos passear.
Voltaram pelo mesmo caminho em direcção ao monumento aos mortos da guerra e aos apartamentos Queen Margaret. Deborah apercebeu-se tarde de mais que aquele caminho iria ter directamente à Royal Court House, em cujos degraus China hesitou, olhando para a fachada imponente do edifício que albergava a máquina legal da ilha. Lá em cima a bandeira de Guernsey flutuava ao vento: três leões num fundo vermelho.
Antes que Deborah pudesse sugerir que seguissem em frente, China subia os degraus do edifício. Entrou e Deborah não teve outro remédio senão segui-la apressadamente.
Encontrou China no átrio consultando um anuário.
- Não precisas de ficar comigo - disse ela quando Deborah lá chegou. - Não há problema. Provavelmente o Simon está à tua espera.
- Quero ficar contigo - disse Deborah. - China, não vai haver problema.
- Claro - disse China. Atravessou o átrio, passou as portas de madeira e vidro translúcido onde estavam inscritos os nomes dos vários departamentos. Dirigiu-se a uma escada enorme junto de uma parede de carvalho que mostrava a dourado os nomes das famílias antigas da ilha e, no primeiro andar, encontrou aquilo de que provavelmente andava à procura: a sala dos julgamentos.
Não parecia ser o sítio apropriado para China melhorar o seu estado de espírito e a escolha era reveladora das diferenças entre ela e o irmão. Na mesma situação, com a irmã inocente de um crime, mas presa, Cherokee pusera em acção a sua infatigável natureza. Um homem de acção com um plano para agir. Deborah percebia que, mesmo conseguindo desesperar a irmã, o facto de Cherokee ser capaz de fazer planos de acção tinha as suas vantagens, uma das quais era nunca ceder ao desespero.
- Não me parece que este lugar seja bom para estares - disse Deborah à amiga quando esta se sentou no extremo da sala oposto ao banco do juiz.
- O Holberry contou-me como são aqui os julgamentos - disse China, como se Deborah nada tivesse dito. - Quando me apercebi de que seria a acusada quis saber como se desenrolariam as coisas, por isso perguntei-lhe. - Olhou em frente como se visse a cena diante dela enquanto a descrevia. - É assim: não há jurados. Não fazem como nós, isto é, como nos Estados Unidos. Não sentam pessoas no banco do júri nem lhes perguntam se decidiram mandar o acusado para a cadeira eléctrica. Usam jurados profissionais. É como se fosse o emprego deles. Mas não percebo como se há-de conseguir um julgamento justo. Não quer dizer que se pode falar antecipadamente com eles? E podem ler coisas sobre o caso se lhes apetecer, não podem? Tanto quanto sei até podem fazer as suas próprias investigações. Mas é diferente dos Estados Unidos.
- E é assustador - admitiu Deborah.
- Na América eu teria uma idéia do que haveria de fazer porque saberia como funcionam as coisas. Arranjaríamos alguém que soubesse escolher os melhores jurados. Poderíamos dar entrevistas à imprensa. Podíamos até falar para a televisão. Podíamos moldar a opinião pública de modo que quando se chegasse ao julgamento...
- Mas não se vai chegar - disse firmemente Deborah. - Não vai. Acreditas, não acreditas?
- pelo menos teríamos uma espécie de influência naquilo que as pessoas sentem e pensam. Ele não está sozinho. Eu estou aqui. Tu estás aqui. O Simon está aqui. Podíamos fazer alguma coisa, não podíamos? Se as coisas fossem como na América...
A América, pensou Deborah. Sabia que a amiga tinha razão. Aquilo que tinha de enfrentar seria muito menos terrível se lá estivesse, onde as pessoas lhe eram familiares, os objectos também e onde, mais importante de tudo, conheceria o processo ou aquilo que o causara.
Deborah apercebeu-se de que não poderia oferecer a China a sensação de conforto que viria com essa familiaridade, pelo menos naquele local que falava de um futuro assustador. Apenas poderia sugerir um ambiente ligeiramente mais acolhedor, em que seria capaz de consolar aquela mulher que também já a consolara.
- Então amiga... - disse calmamente no silêncio que se seguiu aos comentários de China.
China olhou para ela.
Deborah sorriu e decidiu dizer aquilo que China talvez tivesse dito e que Cherokee diria de certeza.
- Isto aqui é uma droga. Vamos cavar daqui!
Apesar da sua disposição a velha amiga de Deborah também sorriu.
- Tá, tudo bem. Fixe! - disse.
Quando Deborah se levantou e lhe ofereceu a mão, China aceitou-a. E não a largou até saírem da sala de audiências, terem descido a escada e saído do edifício.
Pensativo, St. James desligou o telefone após a sua segunda conversa do dia com Lynley. Segundo o que lhe dissera o superintendente da New Scotland Yard não tinha sido difícil extrair informações à Vallera & Son. Quem quer que atendera o telefone parecia não dever muito à inteligência. Não só o indivíduo tinha gritado "Oh, pai! Tenho aqui uma chamada da Escócia. Acreditas?", quando Lynley se identificou depois de ter localizado a empresa em Jackson Heights, Nova Iorque, como se mostrara cooperante e volúvel quando Lynley lhe perguntou qual era exactamente o ramo de negócios da Vallera & Son.
com um sotaque digno de O Padrinho, o homem - Danny Vallera, conforme disse que se chamava - informou Lynley que a Vallera & Son era uma empresa que levantava cheques, oferecia hipotecas e transferia dinheiro "para todo o mundo se desejar. Porquê? Quer mandar uns dólares para cá? Podemos fazê-lo por si. Podemos trocar outra moeda em dólares. Afinal, qual é a vossa moeda na Escócia? Usam francos? Coroas? Já aderiram ao euro? Podemos trocar tudo. Mas claro que vai ter de pagar por isso".
Afável até ao final e, claro, sem um pingo de juízo, e muito menos de suspeita, explicou que ele e o pai tinham transferido quantias de nove mil novecentos e noventa e nove dólares. "E pode acrescentar os noventa e nove cêntimos", acrescentara com uma gargalhada, "mas isso já é esticar as coisas, não é verdade?", para determinados indivíduos que não queriam que o FBI lhes fosse bater à porta, o que provavelmente aconteceria se a Vallera & Son declarasse as transferências de dez mil dólares ou mais como era exigido pelo "Tio Sam e os idiotas de Washington". Portanto, se alguém ali na Escócia quisesse mandar para os Estados Unidos uma quantia inferior a dez mil dólares, a Vallera & Son teria todo o prazer em servir de intermediária na operação, por uma comissão, bem entendido. Nos Estados Unidos, centro dos políticos gananciosos, lobbies desonestos, eleições forjadas e capitalismo enlouquecido, havia sempre uma comissão.
E então o que acontecia se a quantia a transferir fosse mais elevada do que nove mil novecentos e noventa e nove dólares e noventa e nove cêntimos? perguntara Lynley.
Oh, então a Vallera & Son teria de declarar a quantia ao FBI.
E o que faria o FBI?
Debruçar-se-iam sobre o assunto em devido tempo. Se o nome do cliente fosse Gotti1 interessavam-se imediatamente. Se fosse um ricaço recente talvez levassem mais algum tempo.
- Foi tudo muito esclarecedor - disse Lynley a St. James ao concluir o seu relato. - O senhor Vallera poderia ter continuado indefinidamente pois estava encantado por ter recebido uma chamada da Escócia.
St. James soltou uma gargalhada.
- Mas não continuou?
- Parece que o senhor Vallera pai apareceu em cena. Houve algum ruído de fundo revelador de um certo desagrado e a linha do outro lado foi desligada pouco tempo depois.
- Devo-te mais essa, Tommy - disse St. James.
- Mas o senhor Vallera pai não.
Agora, no seu quarto de hotel, St. James reflectia sobre o seguimento a dar aos acontecimentos. Sem conseguir envolver uma qualquer agência governamental dos Estados Unidos, chegava à inegável conclusão de que estava sozinho e de que teria de desenterrar mais elementos e servir-se deles para fazer sair da toca o assassino de Guy Brouard. Considerou as várias maneiras de abordar o problema, tomou uma decisão e desceu até ao átrio.
Aí, perguntou se poderia utilizar o computador do hotel. A recepcionista a quem ele não era muito simpático, porque tivera de o localizar por toda a ilha, não recebeu o seu pedido com grande entusiasmo. Prendeu o lábio inferior nos protuberantes dentes superiores e informou-o de que teria de falar com o senhor Alyar, gerente do hotel.
- Geralmente os clientes não têm acesso... as pessoas costumam trazer os seus. O senhor não tem um portátil? - Não acrescentou Nem um
Patrão da Máfia. [N. da T. ]
telemóvel? Mas a implicação estava presente. E com uma expressão que significava, de que está à espera? partiu em busca do senhor Alyar.
St. James aguardou no átrio durante quase dez minutos antes que um homem em forma de barril, com um fato de casaco assertoado se aproximasse dele, saído de uma porta que levava aos interiores do hotel. Apresentou-se como sendo o senhor Alyar - Felix Alyard - e perguntou o que podia fazer por ele.
St. James explicou-lhe detalhadamente o seu pedido. Enquanto falava entregou-lhe o seu cartão e apresentou o nome do inspector Lê Gallez num esforço por parecer o mais possível uma parte legítima da actual investigação.
com muito mais simpatia do que a da recepcionista, o senhor Alyard concordou em permitir a St. James acesso ao sistema informático do hotel. Recebeu-o num escritório atrás da recepção, onde mais dois funcionários do hotel estavam sentados nos terminais e uma terceira transmitia documentos no faxe.
Felix Alyard levou St. James para um terceiro terminal e disse à funcionária do faxe.
- Penelope, este cliente vai usar o nosso terminal.
Depois eclipsou-se, apresentando a St. James os cumprimentos da casa juntamente com um falso sorriso. St. James agradeceu e apressou-se a aceder à Internet.
Começou por aceder ao site do International Herald Tribune e descobriu que qualquer notícia com mais de duas semanas só podia ser acedida do sítio de onde era originária. O facto não o surpreendeu, levando em conta a natureza daquilo que procurava e o alcance limitado do jornal. Passou então para o USA Today, mas nele as notícias tinham de cobrir uma zona muito vasta e ficavam assim confinados às notícias principais em quase todos os casos: política interna, problemas internacionais, crimes sensacionalistas, actos heróicos.
A seguir pesquisou o Nezv York Times e nada obteve quando escreveu em primeiro lugar PIETER DE HOOCH e em segundo SANTA BÁRBARA. Começou então a duvidar da hipótese que formulara quando ouvira falar da Vallera & Son de Jackson Heights, Nova Iorque e quando soubera a que actividade se dedicava essa empresa.
A única opção que lhe restava era o Los Angeles Times, por isso passou para o sítio do jornal e começou a pesquisar os seus arquivos. Tal como fizera com os outros referira-se ao mesmo período - os últimos doze meses - seguidos do nome de Pieter de Hooch. Em menos de cinco segundos o ecrã do monitor alterou-se e surgiu nele uma lista de artigos relevantes; cinco e a indicação de que havia mais.
Escolheu o primeiro artigo e esperou que o computador fizesse o download. A primeira coisa que apareceu no ecrã foi frase: Recordações de Um Pai.
St. James leu cuidadosamente o artigo. Algumas frases saltavam-lhe à vista como se estivessem escritas a negro. Foi no momento em que percebeu as expressões condecoração de veterano da Segunda Guerra Mundial que abrandou a sua leitura da história. Descrevia um triplo transplante ao coração, pulmões e rins realizada num tal St. Clare's Hospital em Santa Ana, Califórnia. O destinatário tinha sido um rapaz de quinze anos chamado Jerry Fergusson. O pai, Stuart, era o veterano condecorado mencionado no artigo.
O vendedor de automóveis, Stuart Fergusson - era esse o seu nome - parecia ter passado o resto dos seus dias a tentar pagar ao hospital o facto de ter salvo a vida do filho. St. Clare's, um hospital cuja política era não recusar ninguém, não exigira o pagamento de uma conta que excedera em muito os duzentos mil dólares. Um vendedor de automóveis, com quatro filhos, pouca esperança teria de juntar tanto dinheiro, por isso, depois da sua morte, Stuart Fergusson deixara de herança ao hospital a única coisa de valor que possuía. Um quadro.
"Não fazíamos idéia...", dizia a viúva. "Decerto que o Stu nunca soube... disse que o tinha arranjado durante a guerra... como recordação. Era tudo o que eu sabia do assunto."
"Pensei que se tratava de um quadro velho" comentava Jerry Fergusson depois de o quadro ter sido avaliado por especialistas do Getty Museum. "O pai e a mãe tinham-no pendurado no quarto. Nunca pensei muito nisso, sabem."
Parecia então que as encantadas irmãs de caridade que geriam o hospital com um apertado orçamento e passavam grande parte do tempo a tentar conseguir fundos para o manterem, deram por elas como sendo as possuidoras de uma valiosíssima obra de arte. A história era acompanhada por uma fotografia de Jerry Fergusson já adulto e da mãe apresentando o quadro de Santa Bárbara, da autoria de Pieter de Hooch à austera irmã Mónica Casey, que naquele momento não tinha idéia do valor daquilo que tinha entre as suas mãos piedosas.
Quando mais tarde lhes perguntaram se não lamentavam ter-se separado de uma coisa tão valiosa, os Fergusson mãe e filho declararam:
"Foi uma surpresa pensar que o tivemos pendurado na parede durante tantos anos" e "que diabo, era o que o meu pai queria que se fizesse e isso basta-me." Quanto à irmã Mónica, limitou-se a declarar, "tenho o coração a palpitar", e explicou que venderiam o De Hooch num leilão assim que este estivesse devidamente limpo e restaurado. Entretanto, disse ao repórter do jornal que as Irmãs da Caridade guardariam o De Hooch "num local seguro".
Mas não fora suficientemente seguro, pensou St. James, e fora isso que desencadeara tudo.
Clicou nos sítios seguintes e não se surpreendeu com a maneira como os acontecimentos se desenrolaram em Santa Ana, Califórnia. Leu-os rapidamente - o que bastou para perceber como a Santa Bárbara de Pieter de Hooch tinha feito a viagem do St. Clare's Hospital até à casa de Guy Brouard - e imprimiu os mais importantes.
Prendeu-os com uma mola e foi lá para cima.
Deborah fez chá, enquanto China pegava alternadamente no auscultador do telefone, e voltava a pô-lo no descanso, umas vezes depois de marcar alguns números, outras sem chegar tão longe. No regresso aos apartamentos Queen Elizabeth tinha-se por fim decidido a telefonar à mãe. Disse que esta teria de ser informada do que se estava a passar com Cherokee. Mas agora que enfrentava o Momento da Verdade, como lhe chamava, não se decidia a fazê-lo. Marcava o indicativo internacional.
Marcava o indicativo dos Estados Unidos. Marcava até o indicativo de Orange, Califórnia. Depois perdia a coragem.
Enquanto Deborah preparava o chá, China explicava-lhe a sua hesitação, confessando que não passava de uma superstição infantil. - Penso que lhe posso dar azar se telefonar à minha mãe.
Deborah lembrava-se de já a ter ouvido usar antes aquela expressão.
Se pensasse que uma reportagem fotográfica ou até mesmo um exame iam correr muito bem ia falhar completamente porque dava azar pensar assim. Se, cheia de certezas, ficava à espera de um telefonema do namorado, azarava a possibilidade de ele telefonar. Se se lembrava de pensar que naquele dia o trânsito fluía com toda a facilidade nas auto-estradas da Califórnia era certo que ia encontrar um acidente e uma bicha de seis quilômetros nos dez minutos seguintes. Deborah chamava àquele pensamento arrevesado "A Lei da Chinalândia" e habituara-se a não azarar uma situação enquanto vivera com a amiga em Santa Bárbara.
- Mas como é que iria azarar as coisas?
- Não sei bem. Mas tenho o pressentimento de que isso aconteceria. Era como se eu lhe telefonasse e contasse o que se estava a passar e ela viesse para cá e as coisas piorassem.
- Mas isso parece violar a lei básica da Chinalândia - observou Deborah. - Pelo menos tanto quanto me lembro. - Ligou a cafeteira eléctrica.
Mesmo sem querer, China sorriu ao ouvir Deborah usar a antiga expressão.
- Como assim? - perguntou.
- bom, segundo me recordo, na Chinalândia desejavas as coisas exactamente opostas àquilo que querias que acontecesse. Não deixavas que o Destino soubesse aquilo em que estavas a pensar, para que esse Destino não te estragasse as coisas. Punhas tudo ao contrário. Fazias batota com o que querias.
- Enganava o sacana - murmurou China.
- Exacto. - Deborah retirou as canecas do armário. - Neste caso parece-me que tens de telefonar à tua mãe. Não tens outra alternativa. Se lhe telefonares e insistires para que ela venha a Guemsey...
- Ela não tem passaporte, Debs.
- Ainda bem. Terá uma enorme dificuldade em cá chegar.
- Para não falar nas despesas.
- Mmm. Sim. Praticamente o sucesso é garantido. - Deborah inclinou-se sobre a bancada. - Tem de arranjar um passaporte rapidamente. Isso significa uma viagem... onde?
- A Los Angeles. Ao Federal Building. À saída da auto-estrada de San Diego.
- Depois do aeroporto?
- Bastante depois. Até depois de Santa Mónica.
- Que maravilha. Todo aquele trânsito horrível. Todas essas dificuldades. Tem então de lá ir primeiro para tirar o passaporte. Tem de tratar da viagem. Tem de ir de avião para Londres e depois para Guernsey. Tantos problemas e sempre num estado de ansiedade...
- Chega aqui e descobre que foi tudo resolvido.
- Provavelmente uma hora antes de ela chegar. - Deborah sorriu. E voilà. A lei da Chinalândia entrou em acção. Tantos problemas e tantas despesas. Afinal para nada. - Atrás dela a cafeteira desligou-se. Despejou a água para o bule verde, levou-o para a mesa e fez um gesto para que China fosse ter com ela. - Mas se não lhe telefonares...
China deixou o telefone e foi para a cozinha. Deborah esperou que ela concluísse a idéia. Porém, em vez de o fazer, China sentou-se e tocou com os dedos numa das canecas, fazendo-a depois girar entre as palmas das mãos.
- Há algum tempo que já desisti de pensar assim. Afinal foi sempre um jogo. E deixou de funcionar. Ou talvez tivesse sido eu. - Empurrou a caneca para o lado. - Começou com o Matt. Já te contei? Quando éramos adolescentes eu passava pela casa dele e se não olhasse para ver se ele estava na garagem, a cortar a relva para a mãe ou isso, se eu nem sequer pensasse nele quando passava, ele estaria lá. Mas se eu olhasse ou se pensasse nele, nem que fosse no seu nome, então não estava. Funcionava sempre. Por isso continuei. Se me fingisse indiferente, ele interessar-se-ia por mim. Se eu não quisesse sair com ele, ele quereria sair comigo. Se eu pensasse que ele nunca desejaria dar-me um beijo de boas-noites, ele beijar-me-ia. Teria de dar. Desejaria desesperadamente dar-mo. Lá no fundo, sempre soube que não era assim que as coisas funcionavam no mundo, que não se tinha de pensar e fazer exactamente o contrário daquilo que se queria de verdade. Mas uma vez que começara a ver o mundo desse modo e a entrar nesse jogo... continuei. Acabou assim: pensa na vida com o Matt e isso nunca vai acontecer; vive a tua vida e ele vai aparecer desejoso que o aceites para sempre.
Deborah serviu o chá e empurrou a caneca para China.
- Lamento que as coisas tenham corrido assim. Sei o que sentias por ele. Aquilo que querias. As tuas esperanças. Tudo.
- Sim. Tudo. É exactamente essa a palavra. - O açucareiro estava no meio da mesa. China serviu-se de modo que o granulado lhe caísse para dentro da chávena como se fossem farrapos de neve. Quando, aos olhos de Deborah, o chá estava impossível de beber, China deixou de deitar açúcar.
- Quem me dera que tivesse tudo corrido do modo que desejavas disse Deborah. - Mas talvez isso ainda seja possível.
- Como aconteceu com a tua vida? Não, não sou como tu. Eu não caio de pé. Nunca o fiz e nunca o farei.
- Tu não sabes...
- Terminei tudo com um homem, Deborah - interrompeu-a China impaciente. - Acredita, sim? No meu caso não havia outro... deficiente ou não... à espera que as coisas acabassem para as poder retomar onde o outro as tinha deixado.
Deborah estremeceu ao ouvir o tom de sarcasmo nas palavras da amiga.
- É assim que vês a minha vida? E tudo o que se passou? É assim... China, isso não é justo.
- Ah não? Lembras-te? Comigo e com o Matt as coisas nunca foram fáceis. Um dia o sexo era fantástico, no outro zangávamo-nos. Voltávamos com a promessa de que daquela vez seria diferente, íamos para a cama outra vez. Zangávamo-nos três semanas depois por causa de uma coisa estúpida: ele dizia que chegava às oito e só aparecia às onze e meia e nem sequer se incomodava em telefonar para dizer que chegaria atrasado. Eu não conseguia agüentar e dizia-lhe que o queria imediatamente dali para fora, que já estava farta. Depois, dez dias mais tarde ele aparecia a dizer, "Olha, querida, dá-me outra oportunidade, preciso de ti." E eu acreditava nele porque era tão estúpida ou estava tão desesperada que começávamos tudo de novo. E tu tinhas um duque de merda ou lá o que ele era e, dez minutos depois de ele ter saído de cena, entra o Simon. É como eu disse. Cais sempre de pé.
- Só que não foi assim - protestou Deborah.
- Não? Então conta-me como foi. Vê lá se se parece com a minha situação com o Matt. - China estendeu a mão para a caneca de chá mas não bebeu. - Não consegues, pois não? Porque a tua situação nunca foi como a minha.
- Os homens não...
- Não estou a falar de homens. Estou a falar da vida. Da minha vida. E de como a tua sempre foi.
- Limitas-te a ver as aparências - argumentou Deborah. - Estás a compará-las, a sua parte superficial, com o que sentes lá dentro. E não faz sentido, China. Eu nem sequer tive mãe, bem sabes. Cresci numa casa alheia. Passei a primeira parte da minha vida assustada com a minha própria sombra, fui incomodada na escola por ser ruiva e ter sardas e era incapaz de pedir fosse o que fosse a quem quer que fosse. Nem sequer ao meu pai. Sentia-me pateticamente grata se alguém me dava umas pancadinhas na cabeça como se fosse um cão. Os únicos companheiros que tive até aos catorze anos foram os livros e uma máquina fotográfica em terceira mão. Vivia em casa de outra pessoa, onde o meu pai pouco mais era do que um criado, e eu pensava sempre: porque será que ele não é outra pessoa? Porque não tem uma profissão, não é médico, dentista, banqueiro ou outra coisa qualquer? Porque não tem de sair para um emprego como os pais dos outros miúdos? Porque...
- Valha-me Deus. O meu pai estava preso - exclamou China. - Está na cadeia e era lá que já estava. É traficante de droga, Deborah, estás a ouvir? Percebes? Era um traficante do caraças. E a minha mãe... que tal teres como mãe uma mulher que sobe às árvores? Só para salvar um mocho malhado ou um esquilo de três pernas. Para impedir a construção de uma barragem, de uma estrada ou de um oleoduto, mas sempre esquecendo... sempre... um aniversário, o almoço para a escola ou de ver se os filhos tinham sapatos decentes. E, por amor de Deus, nunca poderia estar presente num jogo, numa reunião dos escuteiros ou da escola. Nada disso, e só porque se desaparecesse um rufo de dentes-de-leão todo o ecossistema podia ser posto em perigo. Por isso, não tentes, não tentes mesmo comparar com a minha a tua vida numa mansão qualquer, como sendo uma pobre menina filha de um criado.
Deborah soltou um suspiro entrecortado. Parecia nada mais ter para dizer.
China bebeu um gole de chá, voltando o rosto.
Deborah gostaria de argumentar que ninguém nesta vida poderia reclamar contra as cartas que a vida lhe tinha distribuído. Que o que contava era mais o modo como se jogava do que o jogo que se obtinha. Mas não o disse. Nem comentou que aprendera com a morte da mãe que das coisas más podiam surgir coisas boas. Dizê-lo poderia parecer sinal de arrogância e conduziria inevitavelmente ao seu casamento com Simon, que nunca ocorreria se a família deste não tivesse considerado necessário afastar o pai dela de Southampton. Se não tivessem encarregado Joseph Cotter da renovação da velha casa de família em Chelsea ela nunca para lá teria ido viver, não se teria apaixonado nem acabado por casar com o homem com quem vivia. Mas aquela conversa acabaria por ser perigosa. Tinha muita coisa a tratar naquele momento.
Deborah sabia que possuía informações que poderiam aliviar parte das preocupações de China - o dólmen, o cadeado na porta, o quadro que estava lá dentro, o estado da embalagem em que esse quadro tinha sido contrabandeado até ao Reino Unido e à ilha de Guernsey por Cherokee River e que o estado dessa embalagem implicava - mas sabia que devia ao marido não mencionar nada daquele assunto.
- Sei que estás assustada, China - foi o que disse. - Mas ele não vai ter problemas. Tens de acreditar.
China voltou ainda mais a cabeça. Deborah viu que ela tinha dificuldade em engolir.
- No momento em que pusemos o pé nesta ilha, fomos bodes expiatórios de alguém. Quem me dera que tivéssemos entregado essas estúpidas plantas e partido logo em seguida. Mas não. Pensei que seria fixe fazer uma história sobre a casa. De qualquer modo não conseguiria vendê-la. Fui mesmo parva. Foi tão estúpido. Mesmo uma daquelas idiotices habituais em mim. E depois... olha o que fiz, Deborah. Ele ter-se-ia ido embora. Teria ficado satisfeito por sair daqui. Era o que queria que fizéssemos. Mas eu pensei que poderia tirar umas fotografias, fazer uma história espectacular, coisa que ainda foi mais idiota da minha parte. Desde quando é que eu fui capaz de fazer uma história assim e depois vendê-la? Nunca. Jesus. Sou uma frustrada.
Aquilo era de mais. Deborah levantou-se e dirigiu-se à cadeira da amiga. Colocou-se por detrás dela e abraçou-a. Encostou a face à cabeça dela.
- Pára com isso - disse. - Pára com isso. Juro-te que...
Antes de poder terminar, a porta do apartamento abriu-se e o ar frio de Dezembro varreu a sala. Voltaram-se e Deborah deu um passo em frente para a ir fechar. Porém, deteve-se quando viu quem lá estava.
- Cherokee - gritou.
Ele tinha um aspecto péssimo - mal arranjado, com a barba por fazer - mas, mesmo assim, vinha a sorrir. Ergueu a mão para deter as exclamações e as perguntas que elas lhe iam fazer e foi lá fora por uns momentos. Deborah levantou-se lentamente.
Cherokee regressou. Tinha um saco de viagem em cada mão e atirou-os para dentro do apartamento. Depois, de dentro do casaco, retirou dois pequenos livretes azul-escuros com letras douradas. Atirou um à irmã e beijou o outro.
- Os nossos bilhetes para a liberdade - disse. - Vamos bazar daqui, China.
Ela olhou para o irmão e depois para os passaportes que ele tinha nas mãos.
- O quê... - E depois correu pela sala para se abraçar a ele. - O que aconteceu, Cherokee? O que aconteceu?
- Não sei e também não perguntei - replicou o irmão. - Há cerca de vinte minutos apareceu um polícia na minha cela com as nossas coisas. Disse: "Pronto, senhor River. Desapareça desta ilha até amanhã de manhã."
Se não foi isso, foi quase. Se quiséssemos até nos dava os bilhetes de volta para Roma. com as desculpas da ilha de Guernsey pelo incômodo, claro.
- Foi isso que o homem disse? O incômodo? Devíamos processar
esses sacanas e...
- Alto aí - disse Cherokee. - Não estou interessado em mais nada senão em sair deste sítio. Acredita que se houver um vôo esta noite, meto-me nele. Só uma pergunta. Queres ir a Roma?
- Quero ir para casa - respondeu China. Cherokee acenou afirmativamente e beijou-a na testa.
- Tenho de admitir que a minha cabana no fundo do desfiladeiro nunca me pareceu tão confortável.
Deborah assistiu à cena entre os dois irmãos já com o coração mais leve. Sabia quem tinha sido o responsável pela libertação de Cherokee River e abençoou-o. Simon já viera em seu auxílio mais do que uma vez na vida, mas nunca num momento tão bem escolhido como aquele. Ouvira por fim a sua interpretação dos factos. Mas não fora só isso. Ouvira também a voz dela.
Ruth Brouard terminou a sua meditação sentindo uma paz que havia muitos meses não sentia. Desde a morte de Guy que não praticava os seus trinta minutos diários de calma contemplação e, como resultado, o seu espírito já não conseguia fixar-se num tema e o seu corpo entrava en pânico a cada nova onda de dor. Andara de encontro em encontro com advogados, banqueiros e corretores, quando não folheava os papéis do irmão em busca de uma qualquer indicação de como e porquê ele teria alterado o testamento. Quando não estava a fazer isto estava numa consulta para tentar que o médico lhe alterasse a medicação para uma coisa mais eficaz. Contudo, durante todo esse tempo, as respostas e as soluções de que necessitava estavam dentro dela.
Aquela sessão provou-lhe que ainda era capaz de executar a contemplação suspensa. Sozinha, no seu quarto com uma única vela acesa na mesa a seu lado, sentou-se e concentrou-se na sua respiração. Afastou a ansiedade que ultimamente a invadia. Durante meia hora conseguira esquecer o desgosto.
Quando se levantou da cadeira viu que a luz do dia se transformara em escuridão. O mais completo silêncio invadira a casa. Os ruídos a que se habituara enquanto morara com o irmão, tinham deixado um vazio após a morte dele e ela sentia-se uma criatura lançada inesperadamente para o espaço.
Seria assim até à sua morte. Limitava-se a desejar que ela chegasse em breve. Conseguira controlar-se muito bem enquanto tivera hóspedes em casa, e preparara e levara a cabo o funeral de Guy. Mas o custo para ela fora elevado e o pagamento seria feito em dor e fadiga. Queria oferecer a si própria a solidão que lhe daria oportunidade de recuperar.
Já não valia a pena fingir que estava cheia de saúde, pensou. Guy morrera e Valerie já sabia que ela estava doente, apesar de Ruth nunca lho ter dito. Mas não fazia mal, porque Valerie calara-se desde o princípio. Ruth não o afirmava, de modo que Valerie não falava no assunto. Não se podia pedir mais a uma mulher que passara tanto tempo na casa de outra pessoa.
Ruth retirou um frasco de uma gaveta da cômoda e tirou de lá dois comprimidos. Engoliu-os com água de uma garrafa que tinha junto à cama. Ficaria sonolenta, mas não havia ninguém em casa a quem tivesse de se mostrar alegre. Cabecearia sobre o tabuleiro do jantar, se lhe apetecesse. Poderia cabecear em frente da televisão. Se quisesse poderia dormitar ali mesmo no quarto e ficar a dormitar até de madrugada. Mais uns comprimidos conseguiriam isso. Era um pensamento tentador.
Porém, ouviu lá em baixo o ruído das rodas de um carro sobre a gravilha do caminho. Foi à janela a tempo de ver a traseira do veículo desaparecer pelo lado da casa. Franziu a testa. Não estava à espera de ninguém.
Foi à janela do escritório do irmão. Viu que, do outro lado do pátio, alguém tinha metido um carro grande num dos antigos estábulos. As luzes dos travões estavam ainda acesas, como se o condutor não soubesse o que haveria de fazer a seguir.
Observou e aguardou, mas nada aconteceu. Parecia que quem estava dentro do carro estava à espera que ela desse o próximo passo. E foi isso que Ruth fez.
Deixou o escritório de Guy e desceu as escadas. Sentia-se hirta de ter estado sentada durante todo aquele tempo da meditação, por isso fê-lo lentamente. Sentia o cheiro do jantar que Valerie deixara preparado na cozinha. Foi para lá que se dirigiu, não porque tivesse fome, mas porque lhe parecia que era a coisa mais razoável a fazer. Tal como o escritório de Guy, a cozinha ficava nas traseiras da casa. Poderia usar o pretexto de ir jantar para ver quem chegara a Lê Reposoir.
No último lanço de escadas teve finalmente a resposta. Seguiu pelo corredor até às traseiras, viu uma porta entreaberta e uma réstia de luz em diagonal sobre o tapete. Abriu a porta e viu o sobrinho junto ao fogão mexendo aquilo que Valerie lhe deixara para jantar.
- Adrian - disse. - Pensei que tu... Ele voltou-se.
- Pensei... - disse Ruth - Estás aqui. Mas quando a tua mãe disse que se ia embora...
- A tia pensou que eu também ia. Faz sentido. vou sempre atrás dela, onde quer que ela vá. Mas desta vez não, tia Ruth. - Ergueu a colher de pau para provar o que parecia ser um estufado de carne. - Está preparada para isto? - perguntou. - Quer comer na casa de jantar ou aqui?
- Obrigada, mas não tenho muita fome. - Sentia-se um pouco tonta, sendo talvez já o resultado do analgésico no estômago vazio.
- É evidente - disse Adrian. - A tia perdeu muito peso. Ninguém notou? - dirigiu-se ao armário de onde retirou uma tigela funda. - Mas esta noite tem de comer.
Começou a servir a carne na tigela. Quando a encheu, cobriu-a com uma tampa e retirou do frigorífico uma salada verde que Valerie também tinha preparado. De dentro do forno extraiu outra tigela - desta vez de arroz - e começou a colocar tudo sobre a mesa no centro da cozinha. Trouxe também um copo para a água, o resto da loiça e talheres para uma pessoa.
- Porque voltaste, Adrian? - perguntou Ruth. - A tua mãe... bom, ela não o disse exactamente, mas quando me declarou que se ia embora, concluí... meu querido, sei como deves estar desiludido com o testamento do teu pai, mas ele foi definitivo. E, seja como for, acho que devo respeitar...
- Não espero que a tia faça nada em contrário - disse-lhe Adrian. O meu pai foi definitivo. Sente-se, tia Ruth. vou buscar-lhe o vinho.
Ruth sentiu-se preocupada e confusa. Ficou onde ele a tinha deixado para ir à despensa que Guy havia muito tinha transformado em garrafeira. Ouviu Adrian escolher entre as garrafas de vinho caríssimo que tinham pertencido ao pai. Uma delas bateu na prateleira de mármore onde dantes se guardavam as carnes e os queijos. Momentos depois ouviu o ruído do vinho a ser servido.
Reflectiu sobre as acções do sobrinho, perguntando a si própria o que quereria ele fazer. Quando Adrian regressou momentos depois trazia na mão uma garrafa de Borgonha já aberta e um único copo de vinho na outra. Ruth viu que a garrafa era antiga e que o rótulo estava cheio de pó. Guy nunca a teria usado para uma refeição tão pouco importante.
- Não creio... - disse, mas Adrian passou por ela e puxou uma cadeira com toda a cerimônia.
- Sente-se, minha senhora. O jantar está servido.
- Tu não comes?
- Já comi quando voltei do aeroporto. A propósito, a minha mãe já se foi embora. A estas horas provavelmente o avião até já aterrou. Por fim, lavámos as mãos um do outro, facto que, sem dúvida agradará profundamente ao William, que é o actual marido dela, caso a tia se tenha esquecido. bom, que outra coisa se poderia esperar? Quando casou com ela, nunca pensou aceitar um hóspede permanente na pessoa do enteado.
Se Ruth não conhecesse o sobrinho, teria considerado o seu comportamento e a sua conversa como prova de um estado maníaco. Mas nos trinta e sete anos de vida de Adrian, nunca testemunhara nada que o pudesse nem remotamente descrever como tal. Por isso, aquilo que via era outra coisa. Não sabia o que lhe haveria de chamar, ou até o que significava. Nem tão-pouco o que deveria sentir.
- Não é estranho? - perguntou Ruth. - Pensei que tinhas feito as malas. Não as vi, mas eu... É estranho, não é, como pensamos que as coisas são quando temos uma idéia formada acerca delas?
- Tem toda a razão. - Serviu o arroz com a carne por cima e pôs-lhe o prato na frente. - É um problema que todos temos: observamos a vida com idéias preconceituosas. E as pessoas também. A tia Ruth não está a comer.
- O meu apetite... é difícil.
- Então vou tornar as coisas mais fáceis.
- Não vejo como será possível.
- Mas eu sei - disse ele. - Não sou tão inútil como pareço.
- Não estava a dizer...
- Muito bem. - Adrian ergueu o copo dela. - Beba um gole de vinho. Uma coisa... se calhar foi a única... que aprendi com o pai, foi a escolher o vinho. Agrada-me dizer que esta pequena selecção... - Ergueu o copo contra a luz e observou-o. - Agrada-me dizer-lhe que tem uma viscosidade excepcional, é magnificamente encorpado, tem um aroma excelente, e um travo um pouco ácido no fim... cinqüenta libras a garrafa, não? Mais? Ora, não importa. É perfeito para o que a tia está a comer. Ora prove.
Ela sorriu.
- Se não te conhecesse, pensaria que me queres embriagar.
- Diga antes envenenar - prosseguiu Adrian. - Para herdar uma fortuna que não existe. Decerto não sou também o seu herdeiro.
- Lamento muito, meu querido - disse-lhe Ruth. E quando ele insistiu para que ela bebesse. - Não posso. Os medicamentos... A mistura não iria ser nada boa para mim.
- Ah! - Adrian poisou o copo. - Não está então disposta a viver com o perigo.
- Deixei isso para o teu pai.
- E veja o que lhe aconteceu - disse Adrian. Ruth baixou os olhos e tocou nos talheres.
- vou ter saudades dele.
- Com certeza que sim. Coma qualquer coisa. A carne está muito boa. Ela ergueu os olhos.
- Já provaste?
- Ninguém cozinha como a Valerie. Coma, tia Ruth. Não a deixo sair da cozinha sem ter comido pelo menos metade do seu jantar.
Ruth reparou que Adrian não respondera à pergunta. Juntamente com o seu regresso inesperado a Lê Reposoir, quando pensava que ele tinha partido com a mãe, aquilo fê-la hesitar. No entanto não via razões para desconfiar do sobrinho. Sabia do testamento do pai, e ela acabara de lhe falar do seu.
- Tanta preocupação comigo - disse mesmo assim. - Acho que me sinto muito... muito lisonjeada.
Observaram-se um ao outro sobre as tigelas fumegantes de carne e arroz que estavam sobe a mesa. Porém, o silêncio entre eles era diferente do anterior e ela sentiu-se satisfeita quando o telefone tocou, quebrando aquele momento com a sua insistente campainha.
Começou a levantar-se para ir atender.
Adrian interceptou-a.
- Não. Quero que coma, tia Ruth. Passou uma semana inteira sem ter cuidado consigo. Quem quer que seja, vai voltar a telefonar. Entretanto coma alguma coisa.
Ela ergueu o garfo embora o seu peso lhe parecesse enorme.
- Sim - disse. - bom, como insistes tanto, meu querido... - Porque percebeu que não importava, que o fim chegaria do mesmo modo. - Mas se bem te conheço... porque estás a fazer isto, Adrian?
- Há uma coisa que nunca ninguém percebeu: eu gostava mesmo dele - respondeu Adrian. - Apesar de tudo. E ele sempre me quis aqui, tia Ruth. A tia sabe-o tão bem quanto eu. Ele queria que eu tratasse das coisas até ao fim, porque seria aquilo que ele teria feito.
Dissera uma verdade que Ruth não poderia negar. Foi por isso que levou o garfo à boca.
Capítulo 29
QUANDO DEBORAH SAIU DOS APARTAMENTOS QUEEN MARGARET, CHEROKEE e China tratavam das suas coisas para se certificarem de que nada lhes faltava antes de saírem da ilha. Em primeiro lugar, Cherokee foi à mala de China e revistou-a ruidosamente em busca da carteira. Procurava dinheiro para irem jantar e comemorar naquela noite, anunciou. Contudo, acabou por dizer quando viu o estado empobrecido das finanças da irmã:
- Quarenta libras, Chine? Parece que hoje não posso jantar.
- Ora! Isso seria uma grande novidade - comentou China.
- Mas espera. - Cherokee ergueu um dedo como se tivesse sido invadido por uma súbita inspiração. - Aposto que há uma caixa Multibanco na High Street.
- E se não houver - acrescentou China -, acontece que por coincidência tenho o meu cartão de crédito.
- Meu Deus, hoje é o meu dia de sorte.
Os irmãos riram satisfeitos. Abriram os sacos de viagem para tirarem tudo lá de dentro. Neste momento, Deborah despediu-se. Cherokee levou-a à porta. Lá fora deteve-a sob a luz fraca do patamar.
Na sombra parecia o rapazinho que lá no fundo sempre fora.
- Debs - disse. - Obrigado. Sem ti... sem o Simon... só... obrigado.
- Não creio que tenhamos feito muito.
- Fizeram muitíssimo. E de qualquer modo estavas aqui. És uma amiga. - Soltou uma pequena gargalhada. - Quem me dera que pudesses ser mais. Que diabo. Uma senhora casada. Nunca tive sorte contigo.
Deborah pestanejou. Corou, mas não disse nada.
- Estava no lugar errado, na altura errada - continuou Cherokee. Mas se as coisas tivessem sido diferentes, nessa altura ou agora... – Olhou para o pequeno pátio e para as luzes da rua. - Só queria que soubesses. E não é por causa disto, por causa do que fizeste por nós. Sempre foi assim.
- Obrigada, Cherokee - disse Deborah. - Não me esquecerei.
- Se alguma vez quiseres... Ela pôs-lhe a mão no braço.
- Não vou querer - disse. - Mas obrigada.
- Pronto, está bem - disse ele e beijou-a na face. Depois, antes de ela se poder afastar, segurou-lhe o queixo e beijou-a também na boca. A língua dele tocou nos lábios dela, entreabriu-os, deixou-se ficar e retirou-se.
- Queria fazer isto desde a primeira vez que te vi - disse. - Porque será que esses tipos ingleses tiveram tanta sorte?
Deborah recuou, ainda com a boca a saber ao hálito dele. Sentiu o coração a bater leve, acelerado e puro. Mas o que aconteceria se ficasse com Cherokee na semiobscuridade por mais um momento?
- Os ingleses têm sempre sorte - respondeu e deixou-o à porta. Queria pensar no beijo e em tudo o que o precedera antes de chegar ao hotel, por isso não foi imediatamente para lá. Desceu os Constitution Steps e dirigiu os seus passos para a High Street.
Havia muito poucas pessoas na rua. As lojas estavam fechadas e os restaurantes ficavam um pouco distanciados, na direcção de Lê Pollet, Havia três pessoas na bicha para a caixa Multibanco de que falara Cherokee e cinco adolescentes, dividindo entre si um telemóvel, levavam a cabo uma ruidosa conversa, que ecoava pelos edifícios situados na rua estreita. Um gato escanzelado subia os degraus do cais e passava com passos furtivos pela frente de uma sapataria, enquanto ali próximo um cão ladrava sem parar e a voz de um homem gritava tentando calá-lo.
No local em que a High Street voltava para Lê Pollet e descia para o porto, numa ladeira empedrada, a Smith Street subia a encosta. Deborah virou aqui e começou a subir, pensando na maneira em que o que tinha começado por ser uma preocupação e um desespero terminara doze horas depois, numa situação satisfatória. E também numa revelação. Mas pôs imediatamente isso de parte. Sabia que as palavras de Cherokee tinham vindo do prazer exuberante do momento, da experiência de uma liberdade que quase havia perdido. Não poderia tomar a sério nada do que tinha sido dito no calor daquela alegria.
Mas o beijo... também não o podia levar a sério. Não passava de um simples beijo. Gostara da sensação. Mais ainda, gostara da excitação que lhe provocara. Mas sabia muito bem que não deveria confundir a excitação com qualquer outra coisa. E não sentia nem deslealdade nem remorsos em relação a Simon. Afinal, não passara de um beijo.
Sorriu a reviver os momentos que a tinham levado àquilo. Aquela alegria infantil sempre fora característica do irmão de China, interlúdio em Guernsey fora uma excepção e não a regra nos seus trinta e três anos.
Podiam agora retomar as suas viagens ou regressar a casa-, em qualquer caso levariam com eles um pouco de Deborah: os três anos passados na Califórnia em que ela se transformara de adolescente em mulher. Cherokee continuaria a irritar a irmã. China continuaria a irritar o irmão. Continuariam a discutir, o que seria normal em duas personalidades tão complexas. Mas no fim acabariam sempre por se juntar. Era o que acontecia com os irmãos.
Pensando naquela relação, Deborah passou pelas lojas daSmith Street quase sem reparar onde se encontrava. Só se deteve a meio caminho a cerca de trinta metros do quiosque onde tinha comprado o jornal. Observou os edifícios de ambos os lados da rua: Citizen's Advice Bureau, Marks & Spencer, Viagens Davies, Padaria Fillers, Galeria St. James. Livraria Buttons... franziu a testa ao ver tudo aquilo e ainda mais. Voltou a descer a rua e depois caminhou mais devagar - mais calmamente. Deteve-se quando chegou ao monumento da guerra. vou ter de ir jantar.
Apressou-se a chegar ao hotel.
Simon não estava no quarto mas sim no bar. Estava a ler um exemplar do Guardian enquanto bebia um uísque que tinha junto a Si. No bar encontrava-se um enorme grupo de empresários a beber ruidosamente gim tônico e a comer batatas fritas. O ar estava cheio de fumo de cigarro e do cheiro de corpos pouco lavados após um dia de trabalho nas finanças offshore.
Deborah passou por eles e foi ter com o marido. Viu que Simon se tinha vestido para jantar. - vou lá a cima mudar de roupa - disse apressadamente.
- Não é preciso - respondeu ele. - Vamos jantar, ou queres uma bebida antes?
Interrogou-se por que razão ele não lhe perguntava onde ela tinha ido. Mas o marido dobrara o jornal e pegara no uísque aguardando a resposta dela.
- Eu... talvez um xerez?
- vou buscar - disse ele e dirigiu-se ao bar.
- Estive com a China - disse ela quando ele regressou com a bebida.
- Libertaram o Cherokee. Disseram-lhe que podiam ir-se embora. Disseram-lhe até que tinham de se ir embora, assim que tivessem lugar num avião. O que aconteceu?
Ele observou-a durante uns momentos que a fizeram corar.
- Gostas muito do Cherokee River, não é verdade?
- Gosto muito dos dois, Simon. Que aconteceu? Diz-me, por favor.
- O quadro foi roubado e não comprado - disse ele. - No Sul da Califórnia - acrescentou como que por acaso.
- No Sul da Califórnia? - Deborah sabia que tinha uma expressão preocupada apesar do que se tinha passado nas últimas duas horas.
- Sim, no Sul da Califórnia. - Simon contou-lhe a história do quadro, sem desviar os olhos dela, o que a estava a incomodar e a fazer sentir como uma criança que, de certo modo, tinha desiludido um dos pais. Como sempre, odiava aquele olhar que ele lhe lançava, mas nada disse à espera que ele completasse a sua explicação. - As irmãs de caridade do St. Clare's Hospital tomaram precauções com o quadro quando se aperceberam do seu valor, mas estas não foram as suficientes. Alguém lá dentro soube ou já sabia o caminho, os meios e o destino. A carrinha era blindada e os guardas estavam armados, mas foi na América e estamos a falar na terra da liberdade e das compras fáceis de tudo desde um AK-47 até explosivos.
- Então a carrinha foi atacada?
- Assim que saiu do restaurador. Tão fácil como isso. Atacada por uma coisa de que nunca suspeitariam numa auto-estrada da Califórnia.
- Um acidente? Obras na estrada?
- As duas coisas.
- Mas como? Como é que alguém o teria conseguido?
- A carrinha aqueceu de mais no engarrafamento, sem contar que tinha uma fuga no radiador, como descobriram depois. O condutor encostou à berma. Teve de sair para ver o motor. Um motociclista encarregou-se do resto.
- Diante de tantas testemunhas? Nos outros carros e nos camiões?
- Sim. Mas afinal, o que viram? Primeiro, um motociclista que parou para oferecer ajuda a um veículo avariado e depois o mesmo motociclista serpenteando por entre as filas dos carros bloqueados...
- Que não poderiam segui-lo. Sim. Percebo como aconteceu. Mas onde... como teria Guy Brouard sabido... logo na Califórnia do Sul?
- Havia muitos anos que andava à procura da tela, Deborah. Se eu encontrei a história do quadro na Internet, que dificuldade teria ele em fazer o mesmo? E assim que obteve a informação, o seu dinheiro e uma visita à Califórnia fizeram o resto.
- Mas se ele não soubesse que era uma obra tão importante... quem era o artista... sei lá, na verdade... Simon, significa que ele deve ter tido de seguir todas as histórias acerca da arte que conseguiu encontrar. Durante anos.
- Teve tempo para o fazer. E esta história foi particularmente extraordinária. Um veterano da Segunda Guerra Mundial faz a doação de uma "recordação" de guerra ao hospital que lhe salvou o filho quando este era pequeno. Afinal essa doação é uma obra de arte valiosíssima que ninguém sabia que o artista tinha pintado. Vale muitos milhões e as freiras querem leiloá-la para arranjar fundos para o hospital. Que história, Deborah. Foi apenas uma questão de tempo até que o Guy a visse e tratasse do assunto.
- Então foi lá pessoalmente...
- Sim, para fazer os preparativos. Mais nada. Para fazer os preparativos.
- Então... - Deborah sabia como ele poderia interpretar a pergunta seguinte, mas fê-la mesmo assim, porque precisava de saber, porque tinha a sensação de que havia qualquer coisa que não estava bem. Sentira-o na Smith Street e sentia-o agora.
- Se tudo isso aconteceu na Califórnia, por que razão o inspector Lê Gallez soltou o Cherokee? Porque disse ao Cherokee e à China que saíssem da ilha?
- Suponho que tenha outras provas - respondeu Simon. - Qualquer coisa que aponte para outra pessoa.
- Não lhe disseste nada...
- Do quadro? Não, não lhe disse.
- Porquê?
- A pessoa que entregou o quadro ao advogado Tustin para o fazer transportar para Guernsey não foi o Cherokee River, Deborah. Nem se parecia absolutamente nada com ele. Cherokee River não estava envolvido no caso.
Antes mesmo de Paul Fielder pôr a mão no puxador, Billy abriu a porta da casa no Bouet. Estava à espera do regresso do irmão, certamente sentado na sala, com a televisão aos berros, a fumar e a beber cerveja, gritando que o deixassem em paz quando um dos irmãos mais novos se aproximava. Estivera à espreita do regresso de Paul pelo caminho que levava a casa e, quando o viu vir em direcção à porta, preparou-se para ser o primeiro a ter contacto com ele.
Paul ainda não estava dentro de casa quando Billy disse:
- Olha quem está aqui, o gato vadio voltou para casa. A polícia não acabou contigo, maricas? Trataram bem de ti na cadeia? Já ouvi dizer que era o que os polícias faziam melhor.
Paul passou por ele.
- É o Paulie? - ouviu o pai perguntar lá de cima.
- Paulie, és tu querido? - perguntou a mãe da cozinha.
Paul olhou para as escadas e depois para a cozinha e perguntou a si próprio o que estariam os pais a fazer em casa. Quando escurecia o pai voltava sempre das obras da estrada, mas a mãe trabalhava muitas horas na caixa do Boots e sempre que podia fazia horas extraordinárias. Como tal o jantar costumava ser uma refeição improvisada com uma lata de sopa ou de feijão. Faziam-se torradas e cada um tratava de si, excepto os mais pequenos. Era Paul quem geralmente fazia as deles.
Dirigiu-se para a escada, mas Billy impediu-o.
- Onde está o cão, ó maricas? O teu eterno companheiro?
Paul hesitou. Sentiu imediatamente um aperto no estômago. Desde manhã, quando a polícia o viera buscar, que não via o Taboo. Tentara voltar-se no assento detrás do Panda porque o Taboo seguira-os a ladrar. Corria atrás deles, decidido a apanhá-los.
Paul olhou em volta. Onde estava o Taboo?
Juntou os lábios para assobiar, mas sentiu a boca demasiado seca. Ouviu os passos do pai na escada. Nesse momento a mãe saiu da cozinha. Trazia um avental sujo de molho de tomate e limpava as mãos a uma toalha.
- Paulie - disse o pai numa voz sombria.
- Querido - disse a mãe. Billy soltou uma gargalhada.
- O estúpido do cão foi apanhado. Primeiro um carro e depois um camião e continuou a andar. Acabou a chorar como se fosse uma hiena na berma da escada à espera que alguém viesse dar-lhe um tiro.
OI Fielder irritou-se.
- Basta, Billy. Vai lá para o bar, ou para onde quer que estivesses a pensar ir.
- Não tenciono... - disse Billy.
- Faz imediatamente o que o teu pai te disse! - exclamou a calma Mave Fielder num grito tão pouco habitual que o filho mais velho a olhou de boca aberta como um peixe fora de água antes de arrastar os pés até à porta e de agarrar no casaco de ganga.
- Grande merda - disse para Paul. - Não sabes tomar conta de nada, pois não? Nem sequer desse cão estúpido. - Saiu para a noite e fechou a porta nas suas costas. Paul ainda o ouviu dizer: - Que se lixem todos!
Mas nada do que Billy dissesse ou fizesse o perturbava. Dirigiu-se aos tropeções para a sala e viu apenas o Taboo a correr atrás do carro da polícia. O Taboo na berma da estrada, ferido de morte mas ladrando e rosnando de modo que ninguém se aproximara dele com medo de ser mordido. A culpa era sua por não gritar para que a polícia parasse, de modo a que o cão entrasse no carro. Ou o tempo suficiente para ele levar o cão a casa para o prender.
Sentiu os joelhos encostados ao velho sofá e deixou-se cair nele com a vista enevoada. Alguém atravessava a sala para vir ter com ele e sentiu um braço em redor dos seus ombros. Deveria ser um conforto para ele, mas mais parecia uma fita de metal em brasa. Gritou e tentou afastar-se.
- Sei que estás desgostoso por causa disto, filho - disse-lhe a voz do pai ao ouvido para que ele não perdesse as palavras. - Levaram-no para o veterinário. Telefonaram logo para o trabalho da tua mãe, porque alguém daqui sabia de quem era o animal e...
O animal. O pai chamara animal ao Taboo. Paul não podia ouvir o pai pronunciar essa palavra para se referir ao amigo, à única pessoa que o conhecia bem. Porque Taboo, o cão rafeiro, era uma pessoa. Paul considerava-o igual a si.
- por isso vamos já para lá, que eles estão à espera - terminou o pai.
Paul olhou para ele, confuso e assustado. Que tinha ele dito? Mave Fielder pareceu perceber aquilo em que Paul estava a pensar.
- Ainda não o abateram, querido. Eu disse-lhes que não o fizessem. Que esperassem. Disse-lhes, "O nosso Paulie tem de vir cá despedir-se, por isso façam os possíveis para manterem o pobre cão sem dores e não lhe mexam até que o Paul esteja ao lado dele." O pai vai levar-te lá. Os miúdos e eu... - Apontou para a cozinha, onde sem dúvida os irmãos e a irmã de Paul estavam a lanchar, um lanche excepcionalmente preparado pela mãe que naquele dia estava em casa para cozinhar. - Esperamos por ti aqui, querido. Tenho tanta pena, Paul - disse enquanto ele e o pai se levantaram.
Lá fora o pai de Paul não disse mais nada. Dirigiram-se para a sua velha carrinha onde ainda se viam as palavras Talho Fielder, Mercado da Carne a tinta vermelha. Entraram em silêncio e OI Fielder pôs o motor a trabalhar.
Levaram muito tempo a chegar do Bouet ao consultório das urgências veterinárias, pois este ficava na Route Isabelle e não havia um caminho directo para lá. Assim tiveram de se dirigir e atravessar primeiro St. Peter Port na pior hora do dia, com Paul sempre a sentir-se mal, como se o seu estômago se tivesse tornado líquido. Tinha as palmas das mãos húmidas e o rosto gelado. Via o cão mas nada mais; só a imagem dele correndo e ladrando, ladrando atrás do carro da polícia, porque a única pessoa que amava no mundo estava a ser levada para longe dele. Paul e Taboo nunca tinham estado separados. Mesmo enquanto Paul estava na escola o cão estava lá, com uma paciência de santo, sem nunca se afastar.
- Pronto, rapaz. Vamos entrar, sim?
A voz do pai era suave e Paul deixou-se conduzir até à porta do consultório. Via tudo dentro de uma névoa. Sentia o cheiro dos animais e dos medicamentos. Ouvia a voz do pai e do assistente do veterinário, mas só conseguiu ver bem quando foi levado lá para trás, para um canto silencioso onde um aquecedor eléctrico lançava calor sobre um vulto coberto por um lençol e uma agulha de soro metia um calmante nas veias dessa pequena forma.
- Não tem dores - murmurou o pai ao ouvido de Paul, antes de este chegar junto do cão. - Dissemos-lhes isso filho, que o mantivessem sem dores. Não quisemos que o abatessem porque queríamos que soubesse que o seu Paulie estava com ele. Foi o que eles fizeram.
Outra voz se lhes juntou.
- É este o dono? É o Paul?
- Exactamente - disse OI Fielder.
Falavam por cima da cabeça de Paul, enquanto este se inclinava sobre o cão, afastando o cobertor para ver Taboo de olhos semicerrados, ofegando levemente, com uma agulha inserida numa parte rapada da perna. Paul baixou o rosto para junto do cão e respirou-lhe para o focinho. O cão gemeu pestanejando ao de leve. Pôs a língua de fora, num movimento tão fraco, para lamber o rosto de Paul e cumprimentá-lo.
Quem poderia saber aquilo que tinham partilhado, aquilo que eram e o que tinham aprendido os dois juntos. Ninguém. Porque aquilo que tinham, eram e sabiam era só entre eles. Quando as pessoas pensavam num cão, pensavam num animal. Mas Paul nunca pensara assim acerca de Taboo. Para ele estar na companhia de um cão era partilhar o amor e a esperança.
Estúpido, estúpido, estúpido, teria dito o irmão.
Estúpido, estúpido, estúpido teria dito o resto do mundo.
Mas aquilo não faria diferença para Paul e Taboo. Partilhavam a alma. Eram um único ser.
- processos cirúrgicos - dizia o veterinário e Paul não percebia se ele falava com o pai ou com outra pessoa. - o baço, mas isso não é obrigatoriamente fatal... o pior são as patas traseiras... pode ser uma tentativa infrutífera no final de tudo... é difícil saber... muito difícil.
- Receio que esteja fora de questão - lamentou OI Fielder. - Os custos... Não quer dizer que...
- Compreendo... claro.
- O seu trabalho de hoje... aquilo que o doutor já fez... - suspirou repentinamente. - Vai levar...
- Sim, claro... de qualquer modo não há certezas, com as ancas esmagadas... extensos cuidados ortopédicos...
Paul ergueu os olhos quando percebeu sobre o que o pai e o veterinário estavam a falar. Da sua posição, inclinado sobre o cão pareciam ambos gigantes: o veterinário com a sua enorme bata branca e OI Fielder com a sua roupa de trabalho poeirenta. Mas de facto eram para Paul os detentores de uma gigantesca promessa. Da esperança de que ele necessitava.
Endireitou-se e pegou no braço do pai. OI Fielder olhou-o e depois abanou a cabeça.
- É mais do que o que podemos pagar, meu rapaz, mais do que eu e a tua mãe podemos. E mesmo que lhe fizessem todas essas coisas, provavelmente o pobre Taboo nunca mais seria o mesmo.
Paul voltou o olhar ansioso para o veterinário. Este tinha uma placa presa à bata que dizia que se chamava Alistair Knight, licenciado em Medicina Veterinária.
- Na verdade ficará mais lento. com o tempo sofrerá também de arterite. E como já vos disse não há a certeza de o conseguirmos manter vivo. Se conseguirmos a sua convalescença vai levar anos a fio.
- É muito - disse OI Fielder. - Estás a ver, não estás, Paulie? Eu e a tua mãe... Não conseguimos, filho... Estamos a falar de uma fortuna e nós não temos... Lamento, Paul.
O doutor Knight baixou-se e afagou o pêlo hirsuto do Taboo.
- Mesmo assim, é um bom cão - disse. - Não é, rapaz? - E como se tivesse compreendido, Taboo deitou mais uma vez a língua de fora. Estremeceu e espirrou. Tremeram-lhe as patas dianteiras. - Então será preciso abatê-lo - disse o doutor Knight erguendo-se. - Será um consolo para ambos se o abraçar - disse, voltando-se para Paul.
Paul voltou-se de novo para Taboo mas não levantou o cão como o poderia ter feito. Ao fazê-lo poderia magoá-lo ainda mais e não era isso que queria.
Oi Fielder arrastava os pés enquanto esperava que o veterinário regressasse. Paul voltou a cobrir Taboo. Pegou no aquecedor e aproximou-o mais e quando o veterinário chegou com duas seringas hipodérmicas na mão, Paul estava finalmente preparado.
OI Fielder baixou-se e o veterinário fez o mesmo. Paul estendeu o braço e segurou na mão do médico.
- Eu tenho dinheiro - disse ao doutor Knight num tom de voz tão claro que poderiam ser as primeiras palavras pronunciadas entre duas pessoas. - Não me importo com o que possa custar. Salve o meu cão.
Deborah e o marido tinham começado a jantar, quando o chefe de sala se aproximou com ar deferente e falou com Simon. Disse que havia um cavalheiro - pronunciou o termo de modo vago - que desejava falar com o senhor St. James. Estava à espera à porta do restaurante. O senhor St. James desejava enviar-lhe um recado? Falar já com ele?
Simon voltou-se na cadeira para olhar na direcção indicada pelo chefe de sala. Deborah fez o mesmo e viu um homem gordo com um anoraque verde-escuro espreitando pela porta, olhando-os, parecia até que a olhava a ela. Quando os seus olhos encontraram os dele, este desviou-os para Simon.
- É o inspector Lê Gallez. Desculpa, querida. - E foi falar com o homem.
Voltaram ambos as costas à porta. Falaram durante menos de um minuto e Deborah ficou a olhá-los, tentando interpretar a inesperada aparição da polícia no hotel e também de perceber a intensidade - ou falta dela - da conversa. Pouco tempo depois, St. James voltava mas não se sentou.
- Tenho de te deixar - disse com uma expressão grave. Pegou no guardanapo que poisara sobre a cadeira e dobrou-o cuidadosamente como era seu costume.
- Porquê? - perguntou ela.
- Parece que eu tinha razão. Lê Gallez tem novas provas. Quer que eu lhes dê uma olhadela.
- E não pode esperar? Até depois...
- Está cheio de pressa. Parece que quer fazer uma prisão ainda esta noite.
- Prisão? De quem? com a tua aprovação? Simon, isso não...
- Tenho de ir Deborah. Continua a jantar. Não devo demorar. Só vou à esquadra. Fica ao voltar da esquina. Volto imediatamente. - Inclinou-se e beijou-a.
- Porque é que ele veio buscar-te pessoalmente? - disse ela. Podia... Simon! - Mas ele já se afastara.
Deborah deixou-se ficar sentada por uns momentos, olhando para a chama tremeluzente da única vela que estava sobe a mesa. Apoderou-se dela a sensação inquietante que geralmente atinge o ouvinte de uma mentira mal contada. Não queria correr atrás do marido para lhe exigir uma explicação, mas, ao mesmo tempo, sabia que não se poderia deixar ficar ali, documente como uma corça na floresta. Assim tomou uma decisão intermédia e abandonou o restaurante em direcção ao bar, onde havia uma janela que dava para a frente do hotel.
Por aí viu Simon a vestir o casaco e Lê Gallez a falar com um agente de uniforme. Na rua estava parado um carro da polícia com um motorista ao volante. Atrás do carro, encontrava-se uma carrinha branca da polícia, através de cujas janelas Deborah viu a silhueta de outros polícias.
Soltou um pequeno grito. Sentiu-se mal e percebeu do que se tratava. Mas não tivera tempo para fazer nada. Apressou-se a sair do bar.
Apercebia-se agora que deixara a carteira e o casaco no quarto, por sugestão de Simon, "Não vais precisar disso, amor", e ela cooperara como sempre cooperava... ele era tão sensato, tão preocupado, tão... o quê? Tão decidido a impedir que ela o seguisse. Ao passo que ele, claro, tinha o casaco perto do restaurante porque sempre soubera que Lê Gallez viria chamá-lo no meio da refeição.
Mas Deborah não era tão idiota como o marido pensava que ela era. Tinha a vantagem da intuição. Tinha também a maior vantagem de já ter estado onde pensava que eles iam. Onde teriam de ir, apesar do que Simon lhe dissera para a fazer pensar de outro modo.
Foi buscar o casaco e a carteira e saiu rapidamente do hotel. Os carros da polícia tinham desaparecido, deixando o passeio vazio e a rua livre. Correu até ao parque de estacionamento que fazia esquina com o hotel e ficava em frente da esquadra da polícia: para começar seria completamente improvável que Lê Gallez tivesse vindo com escolta para levar Simon e para o transportar até à esquadra que ficava a menos de cem metros.
- Telefonámos para a casa grande para a avisar do que se passava dizia Lê Gallez a St. James, enquanto percorriam a escuridão na direcção de St. Martin. - Mas ninguém atendeu.
- O que acha que isso quer dizer?
- Só espero que queira dizer que ela foi passar a noite a um lado qualquer. Um concerto, à igreja. Ela pertence aos Samaritanos e pode ser que eles tivessem tido alguma coisa para fazer esta noite. Esperemos que assim seja.
Viraram para Lê Vais dês Terres, junto ao muro coberto de musgo que os separava da encosta e das árvores. Com a carrinha mesmo atrás deles foram sair ao lado de Fort George, onde os candeeiros de iluminação pública iluminavam o recinto de Fort Road. As casas a ocidente pareciam estranhamente desabitadas àquela hora, exceptuando a de Bertrand Debière. Aí estavam acesas todas as luzes, como se o arquitecto quisesse indicar a alguém o caminho para casa.
Dirigiram-se rapidamente em direcção a St. Martin; o único ruído que se ouvia dentro do carro era o estalar do rádio da polícia. Lê Gallez pegou nele assim que se aproximaram de um dos atalhos estreitos, tão vulgares em toda a ilha, serpenteando por baixo das árvores, até chegarem ao muro que marcava os limites de Lê Reposoir. Disse ao condutor da carrinha que os seguia que voltasse em direcção à baía, que deixasse aí o veículo e percorresse o caminho com os seus homens. Encontrar-se-iam no interior dos portões da propriedade.
- E, por amor de "Deus, que ninguém vos veja - ordenou antes de colocar com toda a força o rádio no devido lugar.
- Encoste no Bayside e vá pelas traseiras - ordenou ao condutor do carro.
O Bayside era um hotel fechado no Inverno, como acontecia com tantos outros fora de St. Peter Port. Surgia na escuridão à beira da estrada a meio quilômetro de distância dos portões de Lê Reposoir. Deram a volta até às traseiras, onde havia um caixote do lixo junto a uma porta fechada a cadeado. As luzes de segurança acenderam-se imediatamente. St. James apressou-se a tirar o cinto de segurança e a abrir o carro logo que este parou.
Enquanto se dirigiam para a propriedade dos Brouard, St. James informou Lê Gallez da disposição do terreno. Uma vez no interior dos muros, meteram-se por entre os castanheiros junto ao caminho e aguardaram que os agentes da carrinha subissem o atalho que vinha da baía para se juntarem a eles.
- Tem a certeza de tudo isto? - resmungou Lê Gallez batendo com os pés no chão para se livrar do frio por entre a escuridão.
- É a única explicação - replicou St. James.
- É bom que assim seja.
Passaram quase dez minutos, antes que os outros polícias, ofegantes da subida apressada, atravessassem os portões e se metessem por entre as árvores para virem ter com eles.
- Mostre-nos onde é - disse nesse momento Lê Gallez a St. James e deixou que ele os guiasse.
O sentido do pormenor era uma maravilha quando se estava casado com uma fotógrafa: aquilo em que Deborah reparara e o que Deborah recordava. Por isso não foi muito difícil encontrar o dólmen. A sua principal preocupação era ficar longe da vista: da casa dos Duffy, no extremo da propriedade, da casa grande onde Ruth não atendera o telefone; e, para isso, aproximavam-se vagarosamente pelo lado oriental do caminho. Davam a volta à casa a uma distância de cerca de trinta metros, servindo-se da protecção das árvores e tacteando o caminho sem a ajuda das lanternas.
A noite estava extraordinariamente escura: uma pesada cobertura de nuvens obscurecia a lua e as estrelas. Os homens caminhavam em fila indiana, conduzidos por St. James. Foi assim que se aproximaram dos arbustos por trás dos estábulos, procurando um intervalo na sebe que os levaria por fim ao bosque e ao atalho atrás do qual se encontrava o cercado do dólmen. Sem degrau, o muro de pedra não oferecia um acesso fácil ao terreno que ficava do outro lado. Para uma pessoa que não estivesse limitada pelo aparelho da perna, subir o muro não punha qualquer problema. Mas para St. James a situação era mais complicada e tornava-se ainda mais difícil por causa da escuridão.
Lê Gallez pareceu aperceber-se. Acendeu uma pequena lanterna de bolso e, sem qualquer comentário, iluminou o cimo do muro até encontrar um ponto onde as pedras se tinham esboroado, oferecendo uma fenda estreita através da qual qualquer pessoa poderia passar com mais facilidade.
- Acho que isto será suficiente - resmungou e entrou no cercado. Uma vez lá dentro, viram-se rodeados por roseiras bravas, fetos e silvas. O anoraque de Lê Gallez ficou imediatamente preso num ramo e dois agentes que o seguiam praguejaram em surdina, quando foram picados pelos espinhos.
- Jesus! - murmurou Lê Gallez arrancando o casaco do ramo em que ficara preso. - Tem a certeza de que é este o lugar?
- Tem de haver um acesso mais fácil - disse St. James.
- Podem ter a certeza - disse Lê Gallez aos homens. - Dê-nos uma luz mais forte, Saumarez.
- Não queremos alertar... - disse St. James.
- Não vamos servir de grande coisa, se acabarmos como insectos numa teia. Vamos lá, Saumarez, mas mantenha-a baixa.
O agente em questão segurava uma potente lanterna que inundava de luz o chão quando era ligada. St. James gemeu quando viu que, apesar de as luzes poderem ser vistas da casa, pelo menos tinham tido sorte ao decidirem atravessar o muro. A menos de dez metros à direita viam um atalho que atravessava o cercado.
- Apague - ordenou Lê Gallez, apercebendo-se. A luz extinguiu-se. O inspector meteu-se por entre as silvas, abrindo caminho aos homens que os seguiam. A escuridão era, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição. Impedira-o de encontrar facilmente o caminho para o meio do cercado, deixando-os no meio de um atoleiro vegetal. Mas também lhes escondia ao mesmo tempo a passagem através dos arbustos para o caminho principal, que, de contrário, seria perfeitamente visível, se a lua e as estrelas tivessem aparecido no céu.
O dólmen era exactamente tal qual Deborah o havia descrito a St. James. Erguia-se no centro do cercado, como se muitos anos antes o tivessem rodeado de vários hectares de terra para o proteger. Aos leigos, afigurar-se-ia um pequeno monte de terra, abandonado sem razão aparente, no meio de um terreno por semear. Mas alguém, com alguns conhecimentos de pré-história, saberia que valeria a pena fazer escavações naquele local.
O acesso era feito por meio de um estreito atalho talhado na vegetação, que rodeava o seu perímetro de menos de um metro; os homens seguiram-no até chegarem à forte porta de madeira com o seu cadeado de segredo. Lê Gallez deteve-se então, fazendo incidir de novo a lanterna, desta vez sobre a fechadura, mas logo a seguir sobre os fetos e as silvas.
- Não vai ser fácil escondermo-nos - disse em voz baixa.
Era verdade. Não ia ser fácil aguardarem ali o assassino. Por outro lado, não seria preciso ficarem a grande distância do dólmen, pois os arbustos eram tão altos que lhes ofereciam uma boa cobertura.
- Hughes, Sebastian, Hazell - disse Lê Gallez apontando com a cabeça para a vegetação. - Tratem daquilo. Têm cinco minutos. Quero um acesso fácil, sem visibilidade. E silêncio, por amor de Deus. Mesmo que partam uma perna não piem. Hawthorne, fique junto do muro. Se alguém vier, tenho o meu bip para vibrar. Os outros, telemóveis, bips e rádios desligados. Ninguém fala, ninguém espirra, ninguém arrota, ninguém se peida. Se lixarmos isto, voltamos à estaca zero e eu não vou ficar satisfeito. Perceberam? Vamos a isto!
St. James percebeu que tinham a hora a seu favor. Embora a noite parecesse muito escura, ainda não era tarde. Havia poucas possibilidades de o assassino se aventurar a ir ao dólmen antes da meia-noite. Mais cedo, corria o risco de encontrar alguém em Lê Reposoir e seria difícil explicar a sua presença na propriedade, no escuro e sem lanterna, de modo a convencer quem o tivesse surpreendido.
Por isso foi uma surpresa para St. James ouvir Lê Gallez soltar um impropério quinze minutos mais tarde.
- O Hawthorne tem alguém no perímetro. Merda! Caraças! Eu disse cinco minutos, pessoal. - Voltou-se para os agentes que ainda cortavam os arbustos a uns dez metros da porta. - Vamos passar.
O inspector abriu caminho e St. James seguiu-o. Os homens de Lê Gallez tinham conseguido arranjar entre os arbustos um pequeno espaço do tamanho da casota de um cão. Servia para dois observadores. Meteram-se lá cinco.
Quem quer que se aproximava fazia-o rapidamente, sem hesitar, junto ao muro e pelo caminho. Em breve uma silhueta sombria deslocava-se nas trevas. Apenas uma sombra que se alongava junto aos fetos que cresciam perto do dólmen marcavam o caminho definido pela certeza de que esse alguém já ali estivera.
Depois uma voz baixa, firme, e perfeitamente reconhecível murmurou:
- Simon, onde estás?
- Mas que raio... - murmurou Lê Gallez.
- Sei que estás aqui e não me vou embora - disse Deborah em voz clara.
St. James soltou um suspiro que era ao mesmo tempo um impropério. Deveria ter calculado.
- Ela adivinhou - disse a Lê Gallez.
- Porque será que já nada me surpreende? - comentou o inspector. - Leve-a daqui para fora.
- Não vai ser fácil - respondeu St. James, passando por Lê Gallez e pelos agentes. Dirigiu-se ao dólmen e disse: - Estou aqui, Deborah.
Ela voltou-se para ele.
- Mentiste-me - disse-lhe apenas.
Ele não disse mais nada antes de chegar junto dela. Via-lhe o rosto fantasmagórico na escuridão e recordou-se, na pior ocasião possível, de ter visto os mesmos olhos, havia vinte anos, quando ela ainda era uma criança, na altura do funeral da mãe, confusa, mas procurando alguém em quem confiar.
- Lamento muito, mas não havia outra alternativa.
- Quero saber...
- Não estamos no local apropriado. Tens de ir. Lê Gallez deixou-me vir, mas não vai permitir que também fiques.
- Não - disse ela. - Sei o que estás a pensar. vou ficar para ver que não tens razão.
- Não se trata de ter ou não ter razão - disse-lhe.
- Claro. Para ti é sempre assim. Trata-se apenas de factos e de como os interpretas. Ao diabo quem quer que os interprete de maneira diferente. Mas eu conheço estas pessoas. Tu não. Nunca os conheceste. Só os viste através...
- Estás a tirar conclusões apressadas, Deborah. Não temos tempo para discutir. Isto é muito arriscado. Tens de te ir embora.
- Então vais ter de me arrastar daqui, Simon. - Ele percebeu-lhe a raiva no tom de voz. - Devias ter pensado nisso antes: "Que vou eu fazer se a minha querida Deb descobrir que afinal eu não vou apenas à esquadra?"
- Deborah, por amor de Deus...
- Mas que diabo se passa aqui?
Lê Gallez fez a pergunta surgindo por detrás de St. James. Avançou na direcção de Deborah preparando-se para a intimar.
St. James detestava ter de admitir diante de alguém que mal conhecia, que não era - nem nunca tinha sido - o senhor da sua voluntariosa mulher. Num outro mundo, num outro tempo, um homem poderia ter detido algum poder sobre uma mulher como Deborah. Mas infelizmente não viviam nesse passado em que as mulheres se tornavam propriedade dos seus maridos simplesmente por se terem casado com eles.
- Ela não vai...
- Não me vou embora - disse Deborah directamente a Lê Gallez.
- A senhora vai fazer o que eu mandar, ou mando-a prender - respondeu o inspector.
- Ainda bem - respondeu ela. - O senhor já está habituado. Prendeu os meus amigos sem ter razões para isso. Porque não também eu?
- Deborah... - St. James sabia que não valia a pena discutir com ela, mas mesmo assim tentou. - Tu não estás na posse de todos os factos.
- Então e porquê? - perguntou ela irritada.
- Porque não houve tempo.
- Ah, não?
Pelo tom de voz da mulher e da emoção que percebia nas suas palavras, St. James percebeu que não tinha calculado bem o impacto de continuar as coisas sem o conhecimento dela. Porém, não tinha o direito de a informar como ela aparentemente queria. As coisas tinham avançado com demasiada rapidez.
- Viemos para cá juntos - disse-lhe ela em voz baixa. - Para os ajudarmos juntos.
Devemos acabar isto juntos foi a frase que Deborah não pronunciou mas que o marido compreendeu. Mas naquele momento não era o caso, e ele não lhe podia explicar porquê. Não eram uma espécie de Tommy e Tuppence1 na ilha de Guernsey, abrindo caminho por entre a maldade, combates e assassínios. Morrera um homem, um homem real e não um vilão dos contos de fada que fora desta para melhor porque o merecia. A única forma de justiça que existia agora para esse homem era apanhar o seu assassino no momento em que este se revelasse, e esse momento
1 Heróis de alguns romances de Agatha Christie. [N. da T.]
seria posto em causa se St. James não resolvesse a situação com a mulher que tinha diante de si.
- Desculpa, agora não há tempo. Explico-te depois - disse-lhe.
- Certo. vou ficar à espera. Podes ir ver-me à cadeia.
- Deborah, por amor de Deus...
- Valha-me Deus, homem - interrompeu-o Lê Gallez. - Depois trato da senhora - disse para Deborah.
Voltou para o esconderijo. St. James partiu do princípio que Deborah poderia ficar com ele. Não lhe agradava, mas sabia que não valia a pena discutir mais com ela. Também ele teria mais tarde de tratar do assunto.
Capítulo 30
CRIARAM UM ESCONDERIJO PARA ELES PRÓPRIOS. DEBORAH VIU QUE SE tratava de um rectângulo no qual a vegetação fora rudimentarmente cortada e onde dois agentes estavam já à espera. Aparentemente tinha lá estado outro que, por qualquer razão, se fora colocar mais afastado no perímetro do cercado. Ela não percebia o sentido daquilo, pois havia apenas uma maneira de entrar e de sair: um único atalho por entre os arbustos.
Aliás, não fazia a mínima idéia de quantos homens se encontravam na zona e também não se importava. Tentava aceitar a idéia de que, o marido lhe tinha mentido pela primeira vez depois de casados. Pelo menos acreditava que fosse a primeira vez, embora estivesse perfeitamente disposta a admitir que qualquer coisa era possível naquele ponto. Por isso, o seu espírito alternava entre a irritação, o jurar vingança e o preparar o que lhe haveria de dizer assim que a polícia fizesse a prisão que tencionava fazer naquela noite.
O frio descia sobre eles como uma praga bíblica, vindo da baía e estendendo-se sobre o cercado. Deborah teve a sensação de que os atingiu por volta da meia-noite. Ninguém se atrevia a acender uma lanterna para olhar para o mostrador de um relógio.
Todos se mantinham em silêncio. Passavam os minutos, depois as horas mas nada acontecia. De vez em quando, o restolhar nos arbustos causava tensão no pequeno grupo. Mas nada se seguia a esse restolhar senão mais restolhar e o ruído era atribuído a um animal cujo habitat tivessem ido molestar. Possivelmente uma ratazana. Ou um gato selvagem, que desejava investigar quem eram os intrusos.
Pareceu a Deborah que tiveram de esperar quase até de madrugada, quando Lê Gallez murmurou finalmente, "Vem aí", frase que ela poderia nem ter ouvido se uma rigidez colectiva não se tivesse apoderado dos membros dos homens que estavam escondidos.
Depois ela própria ouviu: o ranger das pedras no muro do cercado, seguido do quebrar de um ramo quando alguém se aproximou do dólmen na escuridão. Nenhuma lanterna iluminava o caminho que era obviamente conhecido da pessoa que para lá se dirigia. Passou apenas um momento até que uma figura coberta de negro, como uma feiticeira, aparecesse no atalho que dava a volta ao dólmen.
À porta, a feiticeira arriscou-se a acender uma lanterna para abrir a combinação do cadeado. Porém, de entre os arbustos, Deborah apenas conseguia ver a centelha de luz que mal iluminava umas costas curvadas para a entrada do dólmen.
Esperou que a polícia se movesse. Mas tal não aconteceu. Ninguém respirou sequer enquanto a figura abriu o cadeado e a porta, e se curvou para entrar na câmara pré-histórica.
A porta ficou entreaberta depois de a feiticeira ter entrado e logo a seguir surgiu uma luz fraca. Deborah percebeu que ela tinha acendido primeiro uma vela e depois outra quando a luz se tornou mais forte. Contudo, não conseguia ver nada do que se passava atrás da porta e qualquer movimento era abafado pelas paredes de pedra da câmara e pela terra que a cobrira durante gerações.
Deborah não percebia por que razão a polícia não fazia nada.
- O que... - murmurou para Simon.
A mão dele apertou-lhe o braço. Ela não conseguia ver-lhe o rosto, mas tinha a certeza de que ele se concentrava na porta do dólmen.
Passaram apenas três minutos e as velas lá dentro apagaram-se de súbito sendo substituídas pela luz da lanterna que se aproximou da porta do dólmen ao mesmo tempo que o inspector Lê Gallez murmurava:
- Atenção, Saumarez. Espere. Calma. Calma, homem. Quando a figura surgiu e se endireitou, Lê Gallez disse:
- Agora.
Do exíguo esconderijo em que se encontrava o agente em questão ergueu-se acendendo ao mesmo tempo uma lanterna tão potente que cegou Deborah durante um momento e fez o mesmo a China River, acabada de apanhar pela luz na armadilha de Lê Gallez.
- Não se mexa, Miss River - ordenou o inspector. - O quadro não está aí.
- Não - murmurou Deborah.
- Desculpa, minha querida - disse Simon, mas Deborah nem o ouviu, pois as coisas aconteceram demasiado depressa.
À porta do dólmen, China voltou-se e foi iluminada por uma segunda luz vinda do muro, que a apanhou como a presa de um caçador. Não disse nada. Meteu-se dentro do dólmen e fechou com força a porta atrás de si.
Deborah ergueu-se sem pensar.
- China! - gritou. - Não é o que parece - disse para o marido e para a polícia.
E como se ela não tivesse dito nada, Simon respondeu a Lê Gallez:
- Apenas uma cama de campanha, velas e uma caixa de madeira com preservativos... - E Deborah percebeu que tudo o que tinha contado ao marido ele tinha passado à polícia de Guernsey.
De um modo estupidamente, completamente ilógico, aquilo pareceu-lhe uma traição ainda maior, mas não o pôde evitar. Não conseguia pensar, não conseguia perceber porquê. Só desejava sair do seu esconderijo para ir ter com a amiga.
Simon agarrou-a antes de ela ter avançado um metro.
- Deixa-me! - gritou ela e soltou-se dele. Ouviu Lê Gallez dizer:
- Que raio! Tirem-na daí. Mas ela gritou.
- Eu vou buscá-la. Deixem-me ir! Deixem-me ir!
Voltou-se para Simon sem se soltar. Olharam um para o outro com a respiração pesada.
- Sabes bem que ela não tem para onde ir. Eles também sabem. vou buscá-la. Tens de me deixar ir buscá-la.
- Não tenho poder para fazer isso.
- Diz-lhes.
- Tem a certeza? - perguntou Lê Gallez. - Não há outra saída?
- Que diferença faz isso agora? - perguntou Deborah. - Como é que ela pode sair da ilha? Sabe que vão telefonar para o aeroporto e para o porto. Acham que vai a nado para França? Vai sair quando eu... deixem-me dizer-lhe quem está cá fora... - Ficou irritada ao aperceber-se de que falava em voz entrecortada e que teria de lutar não só contra a polícia, não só contra Simon, mas também contra as suas malditas emoções, que nunca, nem por um instante, lhe tinham permitido ser como ele era: frio, impassível, capaz de ajustar o pensamento no fio da navalha, se tal fosse necessário. E tinha sido.
- O que te fez decidir... - perguntou hesitante a Simon, mas não conseguiu terminar a pergunta.
- Eu não sabia - respondeu ele. - Não tinha a certeza. Só que tinha de ser um deles.
- Que foi que não me contaste? Não. Não importa. Deixa-me ir ter com ela. vou dizer-lhe o que a espera. Trago-a cá para fora.
Simon observou-a em silêncio e Deborah viu a extensão da dúvida estampada nas suas feições inteligentes e angulosas. Mas também viu nela a preocupação, a preocupação pelos estragos causados na confiança que ela tinha nele.
- Inspector, permite... - perguntou ele a Lê Gallez, olhando para trás.
- Não, não permito, raios me partam. Estamos a falar de uma assassina. Temos um cadáver. Não preciso de outro. Tragam essa cabra cá para fora - disse aos homens.
Aquilo foi o suficiente para que Deborah corresse em direcção ao dólmen. Atravessou os arbustos e chegou à entrada ainda antes que Lê Gallez pudesse dar ordens para a agarrarem.
Assim que ela lá chegou não tiveram outra alternativa senão esperar para ver o que acontecia. Poderiam correr para o dólmen e arriscar a vida de Deborah se China estivesse armada - e Deborah sabia que não seria esse o caso - ou esperarem até que Deborah fizesse sair a amiga. O que aconteceria depois - a prisão da própria Deborah - era uma coisa em que ela não desejava pensar naquele momento.
Abriu com força a pesada porta de madeira e entrou na antiga câmara.
com a porta fechada atrás de si, a escuridão envolveu-a, profunda e silenciosa como uma tumba. A última coisa que ouviu foi o grito abafado de Lê Gallez, quando a pesada porta se fechou. A última coisa que viu foi um ponto de luz que se extinguiu nesse mesmo momento.
- China - disse para o silêncio e ficou à escuta, tentando imaginar aquilo que vira dentro do interior do dólmen quando lá estivera com Paul Fielder. A câmara interior principal estava diante dela. A secundária à direita. Apercebeu-se de que poderia haver mais câmaras lá dentro, talvez à esquerda, mas não as vira e não se recordava da existência de outras fendas que lá pudessem levar.
Pôs-se no lugar da amiga, no lugar de qualquer pessoa que se encontrasse naquela situação. Segurança, pensou. A sensação de ter regressado ao útero materno. A câmara interior, que era pequena e segura.
Estendeu a mão em busca da parede. Era inútil esperar que os olhos se habituassem, pois não havia nada a que se pudessem habituar. Nenhum ponto de luz naquela escuridão, nem uma centelha ou um raio.
- China - disse ela. - A polícia está lá fora. Estão no cercado. Há três a dois metros da porta e um junto ao muro e não sei quantos mais escondidos nas árvores. Não vim com eles. Não sabia. Segui-os. O Simon... Mesmo naquele ponto não era capaz de dizer à amiga que o marido parecia ter sido o instrumento da queda de China. - Não há maneira de sairmos daqui - prosseguiu. - Não quero que te magoes. Não sei porquê...
- Mas a sua voz não conseguiu terminar aquela frase com a calma que desejava, por isso tomou outro rumo. - Há uma explicação para tudo, bem sei. Há, não é verdade, China?
Ficou à escuta enquanto procurava a fenda que levava à pequena câmara lateral. Disse para consigo que nada tinha a temer, porque se tratava da sua amiga, a mulher que a ajudara durante uma época difícil da sua vida, a pior época de todas, um tempo de amor e perda, de indecisão, de acção e do rescaldo dessa acção. Ela abraçara-a e prometera-lhe, "Debs, tudo vai passar. Tudo, acredita."
Na escuridão, Deborah pronunciou de novo o nome de China.
- Deixa-me levar-te daqui - acrescentou. - Quero ajudar-te. Quero estar contigo. Sou tua amiga.
Passou para a câmara interior e o seu casaco roçou na parede. Ouviu o ruído da fazenda e China River também. Por fim, falou.
- Amiga! Pois claro. Debs. Então não és. - Acendeu a lanterna que usara para iluminar o cadeado da porta do dólmen. A luz apanhou Deborah em cheio no rosto. Vinha debaixo, da cama de campanha, onde China estava sentada. Por trás o rosto dela estava branco como uma máscara mortuária de mármore pairando por cima da luz. - Não sabes uma merda acerca da amizade - disse-lhe China simplesmente. - Nunca soubeste. Não me fales daquilo que podes fazer para me ajudar a sair.
- Não fui eu que trouxe a polícia aqui. Não sabiaMas Deborah não podia mentir naquele momento final. Porque ela
estivera na Smith Street, não estivera? Regressara e não vira a loja dos doces onde China dissera que fora comprar coisas para o irmão. O próprio Cherokee tinha-lhe aberto a carteira à procura de dinheiro e nada encontrara, principalmente as tabletes de chocolate de que tanto gostava.
- Foste à agência de viagens, não é verdade? - disse Deborah mais para si do que para China. - Sim, teve de ser. Estavas a fazer os teus planos, a resolver onde irias quando saísses da ilha porque sabias que te libertariam. Afinal tinham-no a ele. Deve ter sido isso que quiseste desde o princípio. Foi até o que planeaste. Mas porquê?
- Queres saber, não queres? - China percorreu com a luz o corpo de Deborah. - Sempre perfeita - disse. - Sempre boa naquilo que te dispões a fazer. Sempre a menina dos olhos de um homem. Percebo que gostasses de sentir como é não prestar para nada e ter alguém muito satisfeito em conseguir provar-lho.
- Não me estás a dizer que o mataste porque... China, o que fizeste? Porquê?
- Cinqüenta dólares - declarou ela. - Cinqüenta dólares e uma prancha de surfe velha.
- De que estás tu a falar?
- Estou a falar daquilo que ele pagou. Do preço. Ele pensou que se*"' apenas uma vez. Pensaram ambos. Mas eu era boa... muito melhor do que ele esperava e muito melhor do que eu própria esperava... por isso voltou à procura de mais. O plano original era servir-se do que queria e o meu irmão assegurou-lhe de que eu estaria disposta se ele me tratasse bem e parecesse ser um bom rapaz, se fingisse não estar interessado só nisso. Por isso foi o que ele fez e o que eu fiz. Só que durou treze anos. O que, segundo me parece, foi uma grande pechincha por cinqüenta dólares e uma prancha de surfe entregues ao meu irmão. Ao meu próprio irmão. A luz da lanterna tremeu mas ela firmou-a e soltou uma gargalhada falsa.
- Imagina, uma pessoa a pensar que o amor é eterno e a outra a aparecer para ter o maior gozo na cama enquanto durante todo este tempo... todo este tempo, Deborah... há uma advogada em Los Angeles, a dona de uma galeria em Nova Iorque, uma cirurgiã em Chicago e só Deus sabe quem mais no resto do país, mas nenhuma delas... estás a perceber, Deborah?... nenhuma delas é tão boa como eu na cama e é por, isso que ele volta sempre a pedir mais. E eu sou tão estúpida que acredito que é apenas uma questão de tempo para ficarmos os dois juntos, porque é tão bom, meu Deus, é tão bom, que ele tem de perceber, não achas? E ele percebe, claro que percebe. Mas há outras, sempre houve outras, que é o que ele finalmente me diz quando o vou confrontar com a história que o meu irmão me contou de me ter vendido ao seu melhor amigo por cinqüenta dólares e uma prancha de surfe quando eu tinha dezassete anos.
Deborah não se mexeu e mal se atrevia a respirar, sabendo que poderia executar um movimento que fizesse com que a amiga saltasse da beira daquele precipício em que se encontrava. Disse a única coisa em que acreditava.
- Não pode ser verdade.
- Que parte da história? - perguntou China. - A parte a teu respeito, ou a parte a meu respeito? Porque deixa-me que te diga que a minha é a mais pura verdade. Por isso deves estar a falar de ti. Deves estar a querer dizer que a tua vida não tem corrido bem, que não tem tudo corrido sobre rodas como planeaste?
- Claro que não. A vida nunca é assim.
- O papá adora-te. O namorado ricaço estava disposto a fazer tudo por ti. Seguiu-se um maridinho também bem forrado de massa. Tudo o que sempre quiseste. Nenhuma preocupação neste mundo. Ora passaste um mau momento quando estiveste em Santa Bárbara, mas tudo se resolveu, como sempre acontece contigo.
- China, nada é assim tão fácil para ninguém. Sabes muito bem. Foi como se Deborah não tivesse falado.
- Depois desapareces. Como todos. Como se eu não me tivesse entregue de alma e coração à nossa amizade, quando precisaste de uma amiga. Afinal és como o Matt, sabes? És como toda a gente. Levas o que precisas e esqueces-te do que deves.
- Estás a dizer... Não podes ter feito tudo isto, aquilo que fizeste... isto não pode tratar-se...
- De ti? Não te envaideças. É altura de o meu irmão pagar. Deborah reflectiu. Lembrou-se daquilo que Cherokee River lhe tinha
contado na noite em que chegara a Londres.
- A princípio não querias vir com ele para Guernsey.
- Não, até que descobri que podia usar a viagem para o fazer pagar - reconheceu China. - Não tinha a certeza de quando, nem como, mas sabia que alguma coisa surgiria. Pensei meter-lhe droga na mala quando passámos pela alfândega. Faríamos escala em Amesterdão, por isso compraria aí a droga. Teria sido engraçado. Não era seguro, mas havia a possibilidade. Ou talvez uma arma. Ou explosivos na bagagem de mão. Não importava. Sabia que haveria de descobrir se tivesse os olhos bem abertos. E quando chegámos a Lê Reposoir e ele me mostrou... bom, aquilo que ele me mostrou... - Esboçou um sorriso fantasmagórico por detrás da lanterna. - Pronto, ali estava, era bom de mais para deixar passar.
- O Cherokee mostrou-te o quadro?
- Ah! - exclamou China. - Que esperta. Tu e o Simon, o teu marido maravilhoso, aposto. Claro que não, Debs. O Cherokee não fazia a mínima idéia daquilo que transportávamos. Nem eu. Até que o Guy me mostrou. Venha ao meu escritório tomar uma bebida, minha querida. Deixe que lhe mostre uma coisa que a vai impressionar mais do que tudo que já lhe mostrei, ou do que já conversámos, ou do que já fizemos, para eu conseguir despir-lhe as cuecas, que é aquilo que eu quero e você também, basta olhar para si para se perceber isso. E se não quiser, vale a pena tentar, porque eu sou rico e você não, e aos ricos basta serem ricos para conseguirem o que querem das mulheres; e tu sabes isso melhor que ninguém, não sabes, Debs? Só que desta vez não foi por cinqüenta dólares e uma prancha de surfe e o pagamento não foi para o meu irmão. Foi como matar uma dúzia de coelhos e não só dois. Por isso fiz amor com ele aqui mesmo, quando me mostrou isto, porque era o que ele queria e foi por isso que cá me trouxe e porque disse que eu era especial... grande idiota... foi por isso que acendeu a vela, deu umas pancadinhas aqui nesta cama e perguntou: "O que pensa do meu esconderijo? Diga baixinho, aproxime-se. Deixe-me tocá-la. Posso fazê-la sentir, você pode fazer-me sentir e a luz é suave contra a nossa pele, não é, e transforma-se em ouro onde precisamos de ser tocados. Minha querida, penso que, por fim, encontrei a mulher certa. Por isso fiz amor com ele, Deborah, e acredita que ele gostou, tal como o Matt gostou e foi aqui que meti o quadro quando lho roubei na noite anterior a tê-lo morto.
- Oh, meu Deus! - exclamou Deborah.
- Deus nada teve a ver com o assunto. Nem nessa altura nem agora. Nem nunca na minha vida. E sabes? Não é justo. Nunca foi. Sou tão boa como tu ou como outra pessoa qualquer e mereço mais do que o que me tocou na rifa.
- E roubaste o quadro? Sabes de que se trata?
- Leio os jornais - disse China. - Não são grande coisa lá no Sul da Califórnia e são ainda piores em Santa Bárbara. Mas as histórias importantes... Sim. Cobrem as histórias importantes.
- Mas o que ias fazer com ele?
- Não sabia e só me lembrei depois. Não seria todo o bolo, só a cobertura. Sabia onde podia encontrá-lo no escritório. Ele não estava muito preocupado em escondê-lo. Por isso levei-o. Pu-lo no esconderijo especial do Guy. Mais tarde voltaria para o ir buscar. Sabia que seria seguro.
- Mas alguém poderia vir aqui e encontrá-lo - disse Deborah. - Se chegassem aqui ao dólmen, bastava-lhes cortarem o cadeado se não soubessem a combinação. Viriam cá com uma luz, veriam, e...
- Como?
- Porque ficava à vista de quem passasse por detrás do altar. Via-se perfeitamente.
- Foi aí que o encontraste?
- Não fui eu... foi o Paul... o amigo do Guy... o rapazinho...
- Ah - disse China. - Então é a ele que eu tenho de agradecer.
- O quê?
- O tê-lo substituído por isto. - China aproximou a luz da mão que não segurava na lanterna. Deborah viu que dentro dela havia um objecto com a forma de um pequeno ananás. Ia perguntar do que se tratava mas o seu espírito saltou e assimilou aquilo que os seus olhos viam.
No exterior do dólmen. Lê Gallez disse a St. James:
- vou dar-lhes mais dois minutos e pronto.
St. James tentava ainda digerir o facto de que China River e não o irmão tivesse aparecido no dólmen. Quando dissera a Deborah que sabia que teria de se tratar de um deles - pois era essa a única explicação razoável para o que acontecera, desde o anel deixado na praia até ao frasco encontrado no campo - concluíra, desde o princípio, que teria de ser o irmão. E isso sem ter a coragem moral de o admitir abertamente, nem mesmo para consigo. Não tanto porque o assassínio fosse um crime mais atribuído a homens do que a mulheres, mas sim porque, de um modo atávico, não desejava admitir que queria Cherokee River fora do seu caminho, e fora o que sempre quisera desde que ele aparecera em Londres à porta da sua casa, bonito e afável a chamar Debs à mulher.
Por isso não respondeu imediatamente a Lê Gallez, demasiado ocupado a tentar apagar mentalmente a sua falibilidade e desprezível fraqueza pessoal.
- Saumarez - dizia Lê Gallez a seu lado. - Prepare-se para avançar. Os outros...
- Ela vai trazê-la - disse St. James. - São amigas. Ela vai escutar a Deborah. Não há outra alternativa.
- Não estou disposto a arriscar - declarou Lê Gallez.
A granada de mão parecia ser muito velha. Mesmo do outro lado da câmara, Deborah via que estava coberta de terra e enferrujada. Parecia ser um objecto da Segunda Guerra Mundial e como tal não acreditava que fosse muito perigosa. Como poderia uma coisa tão velha explodir?
China pareceu ler-lhe os pensamentos porque disse:
- Mas não tens a certeza, pois não? Nem eu. Diz-me como descobriram tudo isto, Debs.
- Descobriram o quê?
- Eu. Isto. Aqui. E contigo. Não te trariam para cá se não tivessem sabido. Não faz sentido.
- Não sei. Não faz sentido. Vim atrás do Simon. Estávamos a jantar quando a polícia apareceu. O Simon disse-me...
- Não me mintas, está bem? Devem ter encontrado o frasco com o óleo de papoila ou não teriam prendido o Cherokee. Calcularam que ele lá tivesse posto as outras provas para que parecesse ter sido eu a assassina. Senão porque haveria eu de ter deixado provas contra mim própria? Devem ter encontrado o frasco. Mas e depois?
- Não sei nada de nenhum frasco - disse Deborah. - Nem de nenhum óleo de papoila.
- Ora, por favor. Tu sabes. A menina do papá? O Simon não te ia esconder uma coisa tão importante. Conta-me, Debs.
- Já contei. Não faço idéia daquilo que eles sabem. O Simon não me disse. Nem me diria.
- com que então não confia em ti?
- Parece que não. - O facto de ter de o admitir custou-lhe mais do que uma bofetada dada pela mão do pai. Um frasco de óleo de papoila. Ele não confiara nela. - Temos de ir - disse. - Estão à nossa espera. Vão entrar se não sairmos...
- Eu não vou - disse China.
- Não vais quê?
- Não vou para a cadeia. Não vou a julgamento. Seja como for que o façam aí. vou sair disto.
- Não podes... China. Não há lugar nenhum para onde possas ir. Não há lugar para saíres da ilha. Provavelmente já avisaram... não podes.
- Não estás a perceber - disse China. - Sair disto não quer dizer sair da ilha. Sair é sair. Tu e eu. Amigas... é uma maneira de dizer... até ao fim. - Colocou cuidadosamente a lanterna a seu lado e começou a puxar a cavilha da velha granada. - Já não me lembro quanto tempo é que estas coisas levam a rebentar, e tu?
- China! Não! Não pode ser! Não funciona. Mas se funcionar...
- É isso que eu espero - disse China.
Para horror de Deborah, China conseguiu retirar a cavilha. Velha, ferrugenta e exposta sabe-se lá a que elementos, deveria ter ficado imóvel no seu lugar, mas não foi isso que aconteceu. Como as bombas por explodir que periodicamente se incendiavam no Sul de Londres, manteve-se na mão de China, enquanto Deborah tentava em vão lembrar-se quanto tempo lhes restava - quanto tempo lhe restava - para evitar a explosão.
- Cinco, quatro, três, dois... - murmurou China.
Deborah atirou-se para trás caindo no escuro. Durante um momento, que mais parecia uma eternidade, nada aconteceu. Depois, uma explosão abalou o dólmen com o ruído do fim do mundo.
Depois foi o nada.
A porta explodiu como um míssil e foi lançada para a densa vegetação, acompanhada de um vento pestilento como um siroco do inferno. O tempo parou por um instante. Nessa suspensão todo o som desapareceu, sugado pelo horror da tomada de consciência do que acabara de acontecer.
Um momento depois - hora, minuto, segundo - toda a reacção do universo se fixou na cabeça de um alfinete que era a ilha de Guernsey. O som e o movimento ergueram-se em redor de St. James com a violência de uma barragem que cede, descarregando água, lama, folhas, ramos e árvores desenraizadas, bem como os cadáveres desfeitos de animais que encontravam no seu caminho. Teve consciência dos empurrões e encontrões dentro do seu ponto de observação, por entre os arbustos. Sentiu os corpos moverem-se em seu redor, e ouviu o impropério de um homem e o grito rouco de outro, como se tivessem vindo de um planeta distante. Mais ao longe os berros pareciam flutuar por cima dele, enquanto em seu redor as luzes balançavam como as pernas de um enforcado, tentando atravessar uma cortina de poeira.
Através daquilo tudo olhava para o dólmen, sabendo que a porta rebentada, o barulho, a deslocação do ar e o rescaldo eram exactamente aquilo que pareciam: a manifestação de um acontecimento que ninguém considerara possível. Quando se rendeu à evidência, pôs-se a caminho aos tropeções. Dirigiu-se directamente para a porta sem se aperceber que caminhava por entre as silvas que o prendiam. Nem sentia os arranhões que lhe feriam a pele. Pensava apenas na porta, no interior daquele local e no medo indescritível de que não queria falar, mas que compreendia, porque ninguém lhe tinha de explicar o que acabara de ocorrer com a mulher e a assassina apanhadas na armadilha.
Alguém o agarrou e ele apercebeu-se dos gritos. Dessa vez as palavras não eram apenas ruídos.
- Valha-me Deus, homem, venha por aqui. Saumarez, tome conta dele e dê-nos mais luz. Hawthorne, há-de aparecer gente da casa grande. Afaste-os por amor de Deus.
Foi empurrado, puxado e depois atirado para a frente. A seguir livrou-se dos arbustos que enchiam o cercado e seguiu Lê Gallez com o objectivo de chegar ao dólmen.
Porque este mantinha-se lá, onde sempre estivera havia já cem mil anos: uma massa de granito entalhada na pedra que constituía o solo da ilha, encaixado na rocha, com paredes, chão e tecto também de granito. E depois, escondido na terra donde tinha saído o homem que tentaria várias vezes destruí-lo.
Mas sem o conseguir. Nem sequer agora.
Lê Gallez dava ordens. Acendera a sua lanterna e iluminara o interior do dólmen, onde a poeira se erguia como as almas no dia do Juízo Final. Voltou-se para falar com um dos seus homens que lhe tinha feito uma pergunta, e foi essa pergunta - porque St. James não se apercebia de nada excepto do que tinha na sua frente - que fez com que o inspector parasse à entrada para responder. A pausa deu a St. James acesso a um lugar onde, de contrário, não poderia entrar. Resolveu tratar daquilo como se fosse uma prece, um negócio com Deus: se ela sobreviver, faço tudo, sou tudo, tento tudo o que Tu quiseres, aceito tudo. Mas isto não, meu Deus, isto não.
Não tinha lanterna, mas não importava, porque apenas precisava das mãos. Tacteou a entrada, batendo com a palma das mãos nas paredes, com os joelhos, esmurrando a testa numa espécie de porta baixa. Recuou. Sentiu o sangue quente brotar-lhe da ferida que fizera na sobrancelha. Continuou o seu pedido. Ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa, aceitar qualquer coisa que Tu me peças sem discutir, viver para os outros, viver só para ela, ser fiel e leal, escutar melhor, tentar compreender porque é aí que eu falho, onde sempre falhei, sabes isso não sabes e foi por isso que ma levaste, não foi, não foi, não foi?
Teria rastejado mas era-lhe impossível, impedido pelo aparelho que o mantinha direito. Mas precisava de rastejar, de se ajoelhar, para fazer a sua súplica na escuridão e na poeira onde poderia encontrá-la. Por isso rasgou a perna das calças e tentou chegar ao detestável velcro. Como não conseguiu, praguejou do mesmo modo que tinha rezado e implorado. Era o que estava a fazer quando a luz de Lê Gallez chegou até ele.
- Valha-me Deus, homem - disse o inspector e gritou lá para trás. Saumarez, precisamos de mais luz.
Mas St. James não precisava. Porque primeiro viu a cor. Cobre. Depois a massa e a beleza daquele cabelo de que sempre gostara tanto.
Deborah estava estendida diante da pedra levemente elevada que lhe descrevera como sendo um altar, no lugar em que Paul Fielder lhe dissera ter encontrado o quadro da bela dama com o livro e a pena.
St. James coxeou até chegar junto dela. Mal tinha consciência de outro movimento em seu redor e da luz potente que varria o local. Ouvia vozes e pés a arranhar a pedra. Sentia o cheiro acre do explosivo e da poeira. Sentia na boca o sabor salgado e metálico do seu sangue, o contacto com a pedra fria e áspera do altar e depois, ali perto, com a carne quente e macia do corpo da mulher.
Só quis saber de Deborah e voltou-a. Viu que tinha sangue no rosto e no cabelo, as roupas rasgadas e as pálpebras fechadas.
Puxou-a violentamente para si. Encostou-lhe o rosto ao seu pescoço. Para além das preces e das maldições o centro da sua vida, do seu ser, fora-lhe arrancado num instante que tinha sido incapaz de calcular. Sem que tivesse tido tempo para se preparar.
Murmurou o nome dela. Fechou os olhos para não ver mais nada e não ouviu mais nada.
Mas conseguia sentir não só o corpo que estreitava contra si, jurando nunca o deixar, mas a sensação da respiração dela, fraca e rápida junto ao seu pescoço.
- Meu Deus - disse St. James. - Meu Deus, Deborah.
Poisou a mulher no chão e soltou um grito rouco a pedir ajuda.
A consciência voltou-lhe em duas formas. Primeiro foi o som: uma vibração estridente cujo nível, tom ou intensidade nunca variavam. Enchiam-lhe o canal auditivo, vibrando contra o mais profundo da membrana fina e protectora. Depois parecia atravessar o tímpano para se lhe enfiar no crânio, onde permanecia. Não restava qualquer espaço para os ruídos vulgares deste mundo tal como ela os conhecia.
Depois do som foi a vista: a princípio apenas luz e escuridão, sombras diante de uma cortina luminosa que parecia ser o sol. A sua incandescência era tal que apenas se podia expor a ela por breves segundos de cada vez e depois tinha de fechar logo os olhos, o que fazia com que o som dentro da sua cabeça ecoasse ainda mais forte.
A vibração mantinha-se sempre. com os olhos abertos ou fechados, estando ela acordada, consciente ou inconsciente, o ruído estava lá. Tornara-se na única constante a que se poderia agarrar e ela tomava-a como indicador de que estava viva. Talvez fosse aquela a primeira sensação sonora que as crianças tivessem quando saíam do ventre materno, pensou. Era uma coisa a que se agarrar, por isso era o que fazia nadando nessa direcção, como se flutuasse na superfície longínqua de um lago de ondulação pesada mas cintilante, com a promessa de sol e ar.
Quando conseguia agüentar mais do que alguns segundos a luz nos olhos, era porque o dia tinha dado lugar à noite. Onde quer que se encontrasse, a claridade tinha mudado radicalmente. Já não era um palco brilhantemente iluminado para ser visto pelo público, mas sim o interior sombrio de um quarto, onde uma única barra fluorescente sobre a cama lançava um escudo luminoso sobre o seu corpo deitado, indicado por esses montes e vales sob o fino cobertor que o cobria. Ao lado da cama estava sentado o seu marido, tão próximo que a cabeça dele estava encostada ao colchão. Tinha-a apoiada nos braços e voltara o rosto para o outro lado. Deborah sabia que se tratava de Simon porque sempre reconheceria aquele homem em qualquer lugar do mundo em que o encontrasse. Conhecia a sua forma e o seu tamanho, o modo como o cabelo se lhe encaracolava na nuca, como as suas omoplatas se apagavam para dar lugar aos planos lisos e firmes dos seus músculos, quando erguia os braços para apoiar a cabeça.
Reparou que ele vestia uma camisa molhada, com manchas cor de cobre no colarinho, como se se tivesse cortado a fazer a barba, limpando depois o sangue com a camisa. Estava também suja de poeira e havia mais sangue na manga mais próxima dela e mais manchas cor de cobre nos punhos. Não via mais nada e não se sentia com forças para o acordar. Apenas conseguiu aproximar uns centímetros mais os seus dedos dele. Foi o suficiente.
Simon ergueu a cabeça. Deborah pareceu-lhe um milagre. Falou, mas ela não o conseguia ouvir por causa do som dentro do crânio. Abanou a cabeça e tentou falar mas não conseguiu porque tinha a garganta seca e os lábios e a língua pareciam estar colados aos dentes.
Simon procurou qualquer coisa sobre a mesa junto à cama. Ergueu-a levemente e levou-lhe aos lábios um copo de plástico. Ela bebeu a água agradecida, achando que estava morna, mas sem que isso lhe fizesse diferença. Enquanto bebia, sentiu que ele se aproximava e que estava trêmulo. Pensou que a água certamente se entornaria. Tentou agarrar no copo, mas ele não deixou. Levou a mão dela ao rosto e os dedos aos lábios. Inclinou-se e encostou a face aos cabelos dela.
Tinham-lhe dito que Deborah sobrevivera porque, ou nunca tinha entrado na câmara interior onde ocorrera a explosão, ou porque tinha conseguido sair de lá e passar para a câmara maior, segundos antes da explosão da granada. E porque se tratara de uma granada de mão, afirmara a polícia. Havia muitas provas que a identificassem.
Quando à outra mulher... Uma pessoa não faz deliberadamente detonar uma bomba cheia de dinamite e vive para contar a história. E fora uma detonação deliberada, concluíra a polícia. Não havia outra explicação para a explosão.
- Felizmente aconteceu dentro do dólmen - disseram a St. James primeiro a polícia e depois os dois médicos que tinham atendido a mulher no Hospital Princess Elizabeth. - Uma explosão destas teria feito cair tudo em cima delas. Teria ficado esmagada... se não tivesse ido parar sabe-se lá onde. Teve sorte. Toda a gente teve sorte. Um explosivo moderno teria feito ir pelos ares o dólmen e o cercado. E como foi que aquela mulher arranjou a granada? Essa é que é a verdadeira questão.
Era apenas uma das verdadeiras questões, pensou St. James. As outras começavam todas com um porquê. Não estava em dúvida que China River se tivesse dirigido ao dólmen em busca do quadro que lá escondera. Que ela viera a saber que o quadro tinha sido escondido entre as plantas arquitectónicas para ser. transportado para Guernsey era também claro. Que planeara e levara a cabo um crime baseado naquilo que conhecia dos hábitos de Guy Brouard eram dois factos que se podiam concluir dos interrogatórios levados a cabo com as principais pessoas envolvidas no caso. Mas o porquê daquilo tudo era ainda um mistério. Porquê roubar um quadro quando nunca conseguiria vendê-lo no mercado, apenas a um coleccionador privado por muito menos do que ele valia... e apenas se conseguisse arranjar um coleccionador que não se importasse de agir à margem da lei? Porquê colocar provas contra ela própria, com uma vaga possibilidade de que a polícia encontrasse um frasco com as impressões digitais do irmão? Principalmente isso.
E depois havia o como. Como pusera a mão naquela roda de fadas que usara para sufocar Broard? Ele mostrara-lha? Ela soubera que ele a tinha? Planeara usá-la? Ou tudo aquilo fora meramente um momento de inspiração durante o qual decidira lançar a confusão, usando em vez do anel que trouxera com ela para a praia, uma coisa que encontrara nessa manhã no bolso da roupa dele?
St. James esperava que a mulher pudesse vir a responder àquelas perguntas. Sabia que outras nunca teriam resposta.
Disseram-lhe que a audição de Deborah acabaria por voltar. Poderia ou não ter sido permanentemente prejudicada pela sua proximidade da explosão, mas só o saberiam com o tempo. Recebera uma violenta comoção cerebral, cuja recuperação levaria vários meses. Sem dúvida sentiria alguma perda de memória em relação aos acontecimentos imediatamente próximos ao detonar da granada de mão, mas ele não deveria pressioná-la a respeito desses acontecimentos. Recordar-se-ia do que pudesse, quando o conseguisse, se alguma vez o conseguisse.
St. James telefonava ao sogro de hora a hora para lhe dar notícias. Quando o perigo passou falou com Deborah do que acontecera. Falou-lhe directamente ao ouvido, em voz baixa com a sua mão sobre as dela. Deborah já não tinha pensos nas feridas do rosto, mas ainda teria de tirar os pontos de um corte no queixo. Os hematomas eram muito feios mas ela estava inquieta. Queria ir para casa. Para o pé do pai, das suas fotografias, do cão e do gato, para Cheyne Row, para Londres, para tudo aquilo que lhe era familiar.
- A China morreu, não é verdade? - perguntou numa voz ainda incerta da sua própria força. - Diz-me, acho que consigo ouvir se te aproximares mais.
E era mesmo assim que ele queria estar. Por isso instalou-se na cama do hospital e contou-lhe o que soubera dos acontecimentos. Contou-lhe também tudo o que lhe escondera. E admitiu ter-lhe escondido aquela informação, em parte para a castigar pela investigação que tinha feito acerca do anel da caveira e das tíbias, e em parte pela repreensão que ele próprio recebera de Lê Gallez por causa do anel. Disse-lhe que assim que falara com o advogado americano de Guy Brouard e soubera que a pessoa que lhe entregara as plantas não era Cherokee River mas um negro rastafariano, conseguira convencer Lê Gallez a estender uma armadilha para apanhar o criminoso. Tinha de ser um deles, por isso seria melhor libertá-los a ambos, sugerira ao inspector. Libertá-los com a condição de deixarem a ilha no primeiro transporte que houvesse na manhã seguinte. Se o crime tivesse sido por causa da pintura encontrada no dólmen, o assassino viria buscá-lo antes da madrugada... se o assassino fosse um dos River.
- Esperava que fosse o Cherokee - disse St. James ao ouvido da mulher e hesitando antes de concluir. - Queria que fosse o Cherokee.
Deborah voltou a cabeça para olhar para ele. St. James não sabia se a mulher o ouvia sem que ele encostasse os lábios ao ouvido dela, mas, de qualquer modo, falou enquanto ela tinha os olhos nele. Devia-lhe aquela confissão íntima e precisa.
- Perguntei várias vezes a mim próprio se não chegaríamos a isso disse ele.
Ela ouviu-o ou leu-lhe os lábios. Não importava.
- A isso, o quê?
- Eu contra eles. Como eu sou. Como eles são. O que tu escolheste em oposição àquilo que poderias ter tido com outra pessoa.
Ela abriu os olhos espantada. - com o Cherokee? - com qualquer pessoa. Mas ele apareceu-nos à porta, um tipo que eu nem sequer conhecia e, francamente, nem me lembrava de te ter ouvido falar nestes anos todos depois de teres voltado da América e ele era-te familiar, Era familiar contigo. Fazia inegavelmente parte desse tempo. E eu não, percebes. Nunca farei. Isso estava na minha cabeça e depois havia o resto: um rapaz com bom aspecto e um corpo saudável vinha buscar a minha mulher para irem para Guernsey. Porque era o que iria acontecer e eu apercebi-me por muito que ele falasse na embaixada americana. E eu sabia que qualquer coisa poderia acontecer, mas era a última coisa que desejava admitir. Ela observou-lhe o rosto.
- Como pudeste alguma vez pensar que eu te deixaria, Simon? Fosse por quem fosse? Não é assim que se ama uma pessoa.
- Não se trata de ti - respondeu ele. - Sou eu. A pessoa que tu és... Nunca viraste as costas a nada, e não o farias senão deixarias de ser quem és. Mas eu vejo o mundo através dos olhos de uma pessoa que virou as costas mais do que uma vez, Deborah. Não só a ti. Por isso, para mim, o mundo é um lugar onde as pessoas se arrasam constantemente umas às outras. Através do egoísmo, da ganância, da culpa, da estupidez. Ou, no meu caso, do medo. Um medo que me faz suar das mãos. Que me vem assombrar quando uma pessoa como Cherokee River me aparece à porta. O medo apodera-se de mim e tudo o que faço toma as cores de tudo aquilo que temo. Queria que ele fosse o assassino porque só assim teria a certeza de ti.
- Pensas mesmo que isso é assim tão importante, Simon?
- O quê?
- Bem sabes.
Ele baixou a cabeça para olhar para a sua mão que cobria as dela de modo que se ela lhe estava a ler os lábios, talvez não conseguisse perceber nada.
- Nem sequer consegui chegar depressa ao pé de ti dentro do dólmen, minha querida. Porque sou assim. Por isso, sim. Acho que é importante.
- Mas só se pensares que eu preciso de ser protegida. E eu não preciso, Simon. Há muito tempo que não tenho sete anos. Nessa altura o que fizeste por mim... agora já não preciso disso. Já nem sequer quero isso. Só te quero a ti.
Ele esforçou-se por assimilar aquelas palavras e por fazê-las suas. Tivera o acidente quando ela tinha catorze anos, já muito tempo depois de ter metido na ordem um grupo de miúdos que a incomodavam na escola. Sabia que ele e Deborah tinham chegado a um ponto em que ele tinha de confiar na força da sua união como marido e mulher. Só não tinha a certeza de o conseguir.
Para ele, aquele momento foi como o atravessar de uma fronteira. Podia ver a travessia mas não distinguia o que estava do outro lado. Era preciso ter fé para ser um pioneiro e ele não sabia de onde vinha essa fé.
- vou ter de percorrer o meu caminho até à tua idade adulta, Deborah - disse por fim. - É o melhor que posso fazer neste momento e, mesmo assim, vou cometer erros constantemente. Consegues agüentar? Vais conseguir agüentar?
Ela apertou-lhe a mão com força.
- É um começo - replicou. - E eu sinto-me feliz por começar.
Capítulo 31
- JAMES DIRIGIU-SE A LÊ REPOSOIR NO TERCEIRO DIA APÓS A EXPLOSÃO e encontrou Ruth Brouard acompanhada do sobrinho. Passavam pela frente dos estábulos, vindos do cercado pois Ruth insistira em ir ver o dólmen. Sabia que ele existia na propriedade, mas sempre o considerara como "o velho monte funerário". Ignorava totalmente que o irmão o tivesse escavado, achado a sua entrada, equipado e usado como esconderijo... St. James descobriu que Adrian também não soubera de nada.
Tinham ouvido a explosão na calada da noite mas sem saber de onde vinha nem porquê. Acordados por ela, tinham ambos saído a correr dos seus quartos e haviam-se encontrado no corredor. com um riso embaraçado, Ruth admitiu a St. James que naquela confusão o seu primeiro pensamento foi que aquele ruído terrível tinha a ver com o regresso do sobrinho a Lê Reposoir. Apercebeu-se intuitivamente de que alguém fizera rebentar uma bomba algures e ligara o facto com o desejo solícito de Adrian para que ela comesse um jantar que ele aquecera ao lume na noite anterior. Pensara que ele tinha querido fazê-la dormir e que, para isso, tivesse adicionado alguma coisa à comida para ajudar o sono a chegar. Por isso, quando as vibrações da explosão fizeram estremecer as janelas do quarto dela e a própria casa, não esperava ver o sobrinho vir aos tropeções pelo corredor do andar de cima, de pijama, aos gritos, que tinha havido um acidente de avião, uma explosão de gás ou um atentado do IRA.
Ruth admitiu que pensara que ele quisesse danificar a propriedade. Já que não a podia herdar, haveria de a destruir. Mas mudou de idéias quando ele se encarregou dos acontecimentos que se seguiram: a polícia, as ambulâncias, os bombeiros. Ela não sabia o que teria feito sem ele.
- Teria confiado tudo ao Kevin Duffy - disse Ruth Brouard. - Mas Adrian disse que não. "Ele não é da família. Não sabemos o que se passa e até sabermos, vamos tratar de tudo o que pode ser tratado por nós." E foi o que fizemos.
- Porque foi que ela matou o meu pai? - perguntou Adrian Brouard a St. James.
Aquilo levou-os ao quadro, pois tanto quanto St. James podia estar certo o quadro era o objectivo de China River. Mas o estábulo não era lugar para se discutir o roubo de uma tela do século XVII, por isso ele pediu para voltarem para casa e conversarem junto da bela dama com o livro e a pena. Tinham de tomar decisões a respeito do quadro.
Este estava na galeria, uma sala que se estendia por quase todo o lado oriental da casa. Estava forrada de madeira de nogueira e continha a moderna colecção de quadros a óleo de Guy Brouard. Entre eles a bela dama parecia deslocada, colocada, sem moldura, sobre uma mesa onde havia também uma caixa de miniaturas.
- O que é isto? - perguntou Adrian olhando para a mesa. Acendeu uma luz e o seu brilho atingiu o véu de cabelo que caía copiosamente em redor dos ombros de Santa Bárbara. - Não é exactamente o tipo de peça que o meu pai costumava coleccionar.
- É a senhora que assistia às nossas refeições - respondeu Ruth. Esteve sempre pendurada na nossa casa de jantar em Paris enquanto fomos pequenos.
Adrian olhou para ela.
- Paris? - murmurou em tom sombrio. - Mas depois de Paris... De onde veio?
- O teu pai encontrou-a. Acho que me queria fazer uma surpresa.
- Encontrou-a onde? Como?
- Suponho que nunca hei-de saber. O senhor St. James e eu... pensamos que deve ter contratado alguém. O quadro desapareceu depois da guerra, mas ele nunca o esqueceu. Nem dos membros da família. Só tínhamos uma fotografia deles... a fotografia do Seder que está no escritório do teu pai... e este quadro vê-se também nessa fotografia. Acho que foi por isso que ele nunca conseguiu esquecer. E se não podia trazer de volta a nossa família, o que é evidente, pelo menos tentou encontrar o quadro. Foi isso que fez. Era o Paul Fielder que o tinha e veio entregar-mo. Penso que o Guy lhe deve ter dito que o fizesse se... bom, se alguma coisa lhe acontecesse a ele antes de me acontecer a mim.
Adrian Brouard não era obtuso. Olhou para St. James.
- Isto tem alguma coisa a ver com a razão por que o mataram?
- Não percebo porquê, querido - disse Ruth Brouard. Veio para o lado do sobrinho e ficou a olhar para o quadro. - Era o Paul que o tinha, portanto não sei por que razão a China River poderia ter sabido da sua existência. Mesmo se soubesse, se o teu pai lho tivesse dito por qualquer razão, bom... trata-se de um objecto sentimental, do último vestígio da nossa família. Teria representado uma promessa que ele me fez quando éramos pequenos e saímos de França. Era uma maneira de recuperar aquilo que ambos sabíamos que não podíamos recuperar. Para além disso, é um quadro muito bonito, mas afinal não passa disso. É só um quadro antigo. O que poderia significar para outras pessoas?
É claro, pensou St. James, que ela em breve saberia a resposta àquela pergunta, quanto mais não fosse por intermédio de Kevin Duffy. Se não naquele mesmo dia, seria noutro em que ele lhe entrasse em casa e o visse no enorme átrio de pedra, naquela galeria, ou no escritório de Guy Broard. Vê-lo-ia e teria de falar... a menos que Ruth lhe dissesse que aquela frágil tela era apenas a recordação de um tempo e de um povo que a guerra quisera destruir.
St. James sabia que com ela o quadro estaria bem guardado, tão bem guardado quanto o estivera durante gerações em que fora apenas retrato da bela dama com o livro e a pena, passado de pais para filhos e depois roubado pelo exército ocupante. Agora era de Ruth. Tendo chegado às suas mãos no rescaldo da morte do irmão, não ficava ao abrigo dos termos do testamento ou de qualquer acordo anterior à morte deste, feito entre eles. Assim, poderia fazer com ele o que lhe apetecesse e quando lhe apetecesse. Desde que St. James calasse a boca.
Lê Gallez conhecia a existência do quadro, mas o que sabia afinal? Simplesmente que China River quisera roubar uma obra de arte da colecção de Brouard. Nada mais. Que quadro era, e de que autor, de onde viera a tela, como ela executara o roubo... só St. James sabia de tudo. Tinha o poder de fazer o que lhe apetecesse.
- Na nossa família - dizia Ruth Brouard -, o pai passava-o sempre para o filho mais velho. Provavelmente era o modo como o rapaz se metamorfoseava em patriarca. Gostarias de o ter, meu querido?
Adrian abanou a cabeça.
- Talvez um dia - disse. - Mas por enquanto não. O pai haveria de querer que a tia o guardasse consigo.
com um gesto afectuoso, Ruth tocou o fundo da tela no local em que o vestido de Santa Bárbara esvoaçava como uma queda-d'água suspensa.
Atrás dela, os pedreiros talhavam e colocavam os blocos de granito até à eternidade. Ruth seguiu para o rosto plácido da santa e murmurou: "Merci, mon frère. Mera. Tu as tenu cent fois Ia promesse que tu avais fatie à Maman. "1 Depois estremeceu e voltou-se para St. James.
- Quis vê-la de novo. Porquê?
Afinal a resposta era de uma extrema simplicidade.
- Porque ela é muito bela - respondeu ele. - E eu queria despedir-me. E foi o que fez. Acompanharam-no às escadas, e ele disse que não
era necessário que o acompanhassem porque conhecia o caminho. Mas mesmo assim desceram com ele um lanço de escadas. Ruth disse que queria ir descansar para o quarto. Cada dia se sentia mais fraca. Adrian afirmou que a acompanharia e a meteria na cama.
- Apoie-se no meu braço, tia Ruth.
Deborah esperava a visita final do neurologista que estava a acompanhar a sua recuperação. Era o último obstáculo a ultrapassar antes de ela e Simon poderem regressar a Inglaterra. Já se vestira, calculando que o médico lhe daria alta e sentara-se numa cadeira pouco confortável, perto da janela e, para que não houvesse dúvidas acerca dos seus desejos, retirara os lençóis e o cobertor da cama para que a pudessem preparar para outro doente.
A sua audição melhorava de dia para dia. Um enfermeiro retirara-lhe os pontos do queixo. Os hematomas tinham melhorado e os cortes e queimaduras quase lhe tinham desaparecido do rosto. As feridas interiores levariam mais tempo a sarar. Até aí evitara sentir a dor provocada por elas, mas sabia que chegaria o dia de ter de as admitir.
Quando a porta se abriu, esperava ver o médico e quase se levantou para o receber. Mas era Cherokee River que ali estava.
- Quis vir imediatamente - disse. - Mas havia... havia tanta coisa a tratar. E depois, depois não sabia como te encarar. Ou o que te dizer. E ainda não sei. Mas precisava de vir. vou partir dentro de umas horas.
Ela estendeu-lhe a mão mas ele não lhe pegou. Ela deixou-a cair e disse:
- Lamento muito.
1 Obrigada, meu irmão. Obrigada. Cumpriste cem vezes a promessa que fizeste à nossa mãe. Em francês no original. [N. da T.]
- vou levá-la para casa - disse. - A minha mãe queria cá vir para ajudar, mas disse-lhe... - Soltou uma gargalhada triste em que só se percebia o desgosto. Passou a mão pelo cabelo encaracolado. - Ela não havia de querer que a nossa mãe viesse. Nunca a quis ao pé dela. Além do mais não valia a pena deslocar-se: um vôo tão longo para voltar logo para trás. Mesmo assim queria vir. Estava a chorar muito. Não falavam uma com a outra havia... não sei. Talvez um ano? Dois? A China não gostava... não sei. Não sei bem do que a China não gostava.
Deborah insistiu para que ele se sentasse na cadeira baixa e incômoda.
- Não. Senta-te tu - respondeu ele.
- Sento-me na cama. - Deborah empoleirou-se no colchão e depois Cherokee sentou-se na ponta da cadeira com os cotovelos sobre os joelhos. Deborah esperou que ele falasse. Não sabia o que dizer para além de exprimir o desgosto pelo que acontecera.
- Não percebo nada - disse ele. - Ainda não acredito... Não havia razão. Mas ela devia ter tudo planeado desde o princípio. Só que não consigo entender porquê.
- Ela sabia que tinhas o óleo de papoila.
- Para o jet lag. Não sabia o que esperar, se conseguiríamos dormir ou não quando cá chegássemos. Não sabia... percebes... quanto tempo levaríamos a habituarmo-nos à mudança de hora, ou se nos habituaríamos. Por isso arranjei o óleo na América e trouxe-o comigo. Disse-lhe que poderíamos usá-lo ambos se fosse preciso. Mas nunca o utilizei.
- Esqueceste-te que o tinhas?
- Não me esqueci. Só não pensei nisso. Se o tinha ou não. Se lho dera. Não pensei no assunto. - Olhava para os sapatos, mas naquele momento ergueu os olhos e disse: - Quando ela o usou no Guy, deve ter-se esquecido de que o frasco era meu. Não se deve ter apercebido de que as minhas impressões digitais estavam nele.
Deborah desviou o olhar. Descobriu que havia um fio perdido na beira do colchão e enrolou-o com força no dedo. Viu que a sua unha escurecia.
- As impressões digitais da China não estavam no frasco. Só as tuas.
- Claro, mas há uma explicação para isso. Como o modo como ela o segurou, ou isso... - Parecia tão esperançoso que Deborah não se atrevia senão a olhar para ele. Não tinha palavras para responder e, como não disse nada, o silêncio cresceu. Ouvia-lhe a respiração e as vozes no corredor do hospital. Uma pessoa discutia com um membro do pessoal exigindo um quarto particular para a mulher. Ela era, "Meu Deus, uma empregada daquele maldito lugar." Merecia uma maior consideração, não?
- Porquê? - perguntou por fim Cherokee em voz rouca. Deborah interrogou-se se seria capaz de encontrar as palavras para
lhe dizer. Parecia-lhe que os irmãos River tinham desferido golpes constantes um no outro, mas especialmente agora não havia um verdadeiro equilíbrio da balança quando se tratava de crimes cometidos e de dores que ambos tinham suportado.
- Ela nunca pôde perdoar a vossa mãe, pois não? Pelo que ela fazia quando vocês os dois eram crianças? Nunca havia uma mãe por perto. Uma enfiada de motéis. O local onde tinham de comprar a roupa. Só um par de sapatos. Ela não conseguia ver que se tratava apenas de coisas materiais. Mais nada. Não se tratava de mais nada: um motel, roupas em segunda mão, sapatos, uma mãe que não estava presente mais do que um dia ou uma semana de cada vez. Mas para ela significava mais. Era como... como se fosse uma enorme injustiça que lhe tinha sido feita em vez daquilo que era: apenas as cartas que lhe tinham sido distribuídas e de que poderiam tirar partido. Percebes o que eu queria dizer?
- Então ela matou... ela queria que a polícia acreditasse... - Era óbvio que Cherokee não conseguia enfrentá-lo e muito menos aceitá-lo.
- Acho que não percebo.
- Creio que ela via injustiças onde outras pessoas apenas viam a vida - disse-lhe Deborah. - E não conseguia ultrapassar a idéia dessa injustiça: o que acontecera, o que fora feito...
- O que lhe fora feito. - Cherokee completou o pensamento de Deborah. - Sim. Claro. Mas eu alguma vez... Não, quando ela usou o óleo não pensei... ela não sabia... não se apercebia... - A voz morreu-lhe na garganta.
- Como soubeste onde nos encontrar em Londres? - perguntou-lhe Deborah.
- Ela tinha a tua direcção. Se eu tivesse problemas na embaixada ou assim, disse-me que podia pedir-te ajuda. Podíamos precisar de saber a verdade, disse-me ela.
E fora isso que acontecera, pensou Deborah. Não como China calculara. Sem dúvida imaginara que Simon engoliria a sua inocência, insistindo em que a polícia local continuasse a fazer as suas investigações até encontrarem a garrafa do opiáceo que ela lá plantara. O que ela não pensara era que a polícia local encontraria por si o frasco e que o marido de Deborah tomaria um caminho completamente diferente, desenterrando factos sobre o quadro e preparando-lhe uma armadilha com esse mesmo quadro a servir de isco.
- Então foi ela que te disse que nos fosses buscar - disse Deborah em voz baixa ao irmão de China. - Sabia como seria se nós viéssemos.
- Que eu seria...
- Era isso que ela queria.
- Atribuir-me o crime. - Cherokee pôs-se de pé e encaminhou-se para a janela coberta pelos estores. Puxou pelo cordão. - Para que acabasse... o quê? Como o pai dela ou isso? Seria esta viagem uma vingança porque o pai dela está na cadeia e o meu não? Como se eu tivesse a culpa de o pai dela ser um falhado? bom, a culpa não era minha, não é minha. E afinal, o meu pai também não é muito melhor. Um fulano cheio de boas intenções que passou a vida a salvar a tartaruga do deserto ou a salamandra amarela, ou sei lá o quê. Meu Deus! Que diferença faz? Que diferença é que alguma vez pode ter feito? Não entendo.
- E será preciso?
- Ela era minha irmã. Por isso preciso de entender.
Deborah saiu da cama e dirigiu-se a ele. Tirou-lhe delicadamente o cordão e ergueu o estore para deixar entrar no quarto a luz do dia e para que o distante sol de Dezembro lhes iluminasse os rostos.
- Vendeste a virgindade dela ao Matthew Whitecomb - disse Deborah. - Ela descobriu, Cherokee. E queria fazer-te pagar.
Ele não respondeu.
- Ela pensava que ele a amava. Durante todo este tempo. Vinha sempre ter com ela apesar do que acontecia entre eles e pensava que isso significava aquilo que não significava. Sabia que ele a enganava com outras mulheres, mas acreditava que, no fim, se cansaria disso e acabaria com ela.
Cherokee inclinou-se para a frente. Encostou a testa ao vidro frio.
- Ele era infiel - murmurou Cherokee. - Mas não a ela. com ela. Em que diabo estava ela a pensar? Um fim-de-semana por mês? Dois, se tivesse sorte? Uma viagem ao México há cinco anos e um cruzeiro quando tinha vinte e um anos? O sacana é casado, Debs. Há já dezoito meses e nem sequer lhe disse. E ali estava ela, sempre à espera, e eu não podia... não podia ser eu. Não lhe podia fazer isso. Não queria ver a cara dela. Por isso disse-lhe o que tinha acontecido ao princípio porque esperava que fosse o suficiente para a irritar e acabar tudo com ele.
- Queres dizer... - Deborah nem se atrevia a completar o pensamento, tão horrível ele era nas suas conseqüências. - Não a vendeste? Ela só pensava... Cinqüenta dólares e uma prancha de surfe? Ao Matt? Não o fizeste?
Ele voltou a cara. Olhou para o parque de estacionamento do hospital e viu um táxi deter-se na zona de cargas e descargas. Viram Simon sair do carro, falar com o motorista durante uns momentos e o táxi continuar ali enquanto ele se aproximava da porta do hospital.
- Estás livre - disse Cherokee a Deborah.
- Afinal, não a vendeste ao Matt? - insistiu ela.
- Já arrumaste as tuas coisas? - perguntou Cherokee. - Se quiseres podemos ir ter com ele ao átrio.
- Cherokee - disse ela.
- Que raio! - respondeu ele. - Eu queria fazer surfe. Precisava de uma prancha. Não me bastava andar com uma emprestada. Queria uma só minha.
- Valha-me Deus - suspirou Deborah.
- Não devia ter criado tantos problemas - disse Cherokee. - Para o Matt não foi grande coisa e com outra miúda também não teria tido essa importância toda. Mas como haveria eu de saber que a China reagiria assim e se entregaria dessa maneira a esse sacana? Que diabo, Deborah, era só para ir para a cama com ele.
- E tu, afinal, agiste como um chulo.
- Não foi bem assim. Eu sabia que ela tinha um fraquinho por ele. Qual era o mal? Nem sequer teria sabido do negócio se não se tivesse envolvido daquela maneira com esse pulha. Por isso tive de lhe dizer. Não havia outra alternativa. Foi para o bem dela.
- Exactamente como o negócio? - perguntou Deborah. - Não foi para o teu bem, Cherokee? Para teres o que querias e para que a tua irmã o conseguisse para ti? Não foi assim?
- Muito bem. Sim. Mas ela nunca deveria ter levado as coisas tão a sério. Devia ter tratado da vida dela.
- Pois sim. Não tratou - comentou Deborah. - Porque é difícil fazê-lo quando não se conhecem os factos.
- Ela conhecia esses malditos factos. Só que não queria vê-los, merda! Porque se haveria de agarrar assim a tudo? Não conseguia ver a realidade, tinha de guardar tudo dentro dela.
Deborah sabia que a esse respeito ele tinha razão: China atribuía um preço a tudo, sentindo sempre que devia obter mais do que havia.
Deborah tinha-se apercebido desse facto na última conversa que tivera com ela: esperara demasiado das pessoas, da vida. E nessas esperanças semeara a sua própria destruição.
- E o pior é que ela não precisava de o fazer, Debs - disse Cherokee. - Ninguém lhe estava a apontar uma arma à cabeça. Ele aproximou-se. Claro que fui eu que os juntei da primeira vez. Mas ela deixou que tudo acontecesse. Continuou a deixar. Por isso como diabo é que a culpa é toda minha?
Deborah não tinha resposta para aquela pergunta. Afigurou-se-lhe que os River tinham passado muito tempo a ver erros em toda a parte e a atribuírem-nos uns aos outros em todos aqueles anos.
Depois de ter batido rapidamente à porta, Simon entrou para vir ter com eles. Trazia consigo aquilo que ela esperava que fossem os papéis para poder ter alta do Hospital Princess Elizabeth. Simon fez um aceno a Cherokee e voltou-se para Deborah.
- Pronta para ir para casa? - perguntou.
- Mais que pronta - respondeu ela.
Capítulo 32
FRANK OUSELEY ESPEROU PELO DIA VINTE E UM DE DEZEMBRO, O DIA mais curto e a noite mais longa do ano. O pôr do Sol seria bastante cedo e era o que ele queria. As sombras reconfortavam-no, protegendo-os dos olhares curiosos que poderiam inadvertidamente testemunhar o último acto do seu drama pessoal.
Foi buscar o embrulho às três e meia. Tratava-se de uma caixa de cartão que colocara sobre o televisor desde que a trouxera de St. Sampson. A tampa estava selada com fita-cola, mas Frank já anteriormente verificara o conteúdo. Tratava-se de um saco de plástico com os restos mortais do pai. Cinzas às cinzas e pó ao pó. A cor da substância ficava entre os dois, simultaneamente mais clara e mais escura, onde se encontrava aqui e ali o fragmento de um ou outro osso.
Sabia que algures, no Oriente, revistavam as cinzas dos mortos. A família juntava-se e, com pauzinhos, recolhiam o que restava dos ossos. Não sabia o que faziam com eles - provavelmente guardavam-nos em relicários familiares parecidos com aqueles que guardavam os ossos dos santos nas igrejas cristãs: mas ele não tencionava fazê-lo com as cinzas do pai. Os ossos que restassem passariam a fazer parte do local em que Frank decidira depositar os restos do pai.
Primeiro pensara no reservatório. O local onde a mãe se tinha afogado poderia ter recebido sem qualquer problema os restos mortais do pai, mesmo que não se dispersasse na água. Depois pensou no terreno da igreja de St. Saviour, onde deveria ter ficado o museu da guerra. Mas concluiu que seria um sacrilégio guardar as cinzas do pai num local em que deveriam ser honrados homens tão diferentes dele.
Transportou cuidadosamente o pai até ao Peugeot, colocou-o no assento ao lado do condutor, sempre resguardado por uma velha toalha de praia que usara quando era pequeno e dirigiu-se a Talbot Valley. Agora, as árvores estavam completamente nuas, só os carvalhos tinham ainda folhas na suave encosta do lado sul do vale e, mesmo aí, já havia muitas no chão, colorindo os troncos das árvores com uma capa de âmbar e açafrão.
O sol desaparecia mais cedo em Talbot Valley do que no resto da ilha. Ocultas numa paisagem de encostas ondulantes, escavadas pela erosão das seculares águas dos ribeiros, as raras casinhas de campo ao longo da estrada tinham já as janelas iluminadas. Mas quando Frank saiu do vale em St. Andrew a terra mudou e a luz também. As pastagens davam lugar à agricultura e às pequenas aldeias, onde casinhas com as suas estufas bebiam e reflectiam os restos da luz do Sol.
Dirigiu-se para leste e chegou a St. Peter Port do outro lado do Hospital Princess Elisabeth. A partir daí, não era difícil chegar a Fort George. Embora a luz estivesse prestes a desaparecer, era demasiado cedo para que o trânsito se tornasse problemático. Além do mais, naquela altura do ano, pouco trânsito havia. Na Páscoa as estradas já começariam a encher-se.
Esperou apenas que um tractor passasse no cruzamento do fim da Prince Albert Road. Depois disso, chegou rapidamente a Fort George, passando por baixo do seu arco de pedra, exactamente quando o sol atingia as janelas das casas espalhadas pelo interior do forte. Apesar do seu nome, aquele local havia muito que deixara de ser usado com fins militares mas, ao contrário do que acontecera com as outras fortalezas da ilha - desde Doyle até lê Crocq -, não era uma ruína de granito e tijolo. A sua proximidade de St. Peter Port bem como a vista que tinha sobre a Soldier's Bay tinham feito dele uma localização de excelência para os exilados fiscais de Sua Majestade construírem as suas sumpruosas residências. E era o que tinham feito, atrás de altas sebes de buxo e teixo, atrás de gradeamentos de ferro forjado e de portões electrificados que se abriam para relvados junto aos quais se viam Mercedes-Benzes e Jaguares.
Ao atravessar o forte, um carro como o de Frank teria levantado suspeitas se não se dirigisse directamente ao cemitério, ironicamente situado na parte com melhor vista de toda aquela zona. Ocupava uma encosta voltada a oriente na ponta sul do antigo cemitério militar. A sua entrada estava indicada por um monumento aos mortos da Grande Guerra na forma de uma enorme cruz de granito em que uma espada, metida na pedra, duplicava a cruz cinzenta em que tinha sido cravada. A ironia fora provavelmente intencional. O cemitério era decididamente irônico.
Frank estacionou por baixo do monumento e percorreu o caminho até à entrada. Daí podia ver as pequenas ilhas de Herm e Jethou erguendo-se na bruma do outro lado das águas calmas. Também, a partir daí, uma rampa de betão - protegida da possibilidade de uma pessoa enlutada cair devido às intempéries - descia para o cemitério que era formado por uma série de terraços escavados na colina. Num ângulo recto em relação a esses terraços havia uma parede com baixos-relevos de bronze, mostrando o perfil de algumas pessoas, talvez cidadãos, soldados ou vítimas da guerra. Frank não sabia. Mas a inscrição - A vida prossegue para além da sepultura - sugeria que essas figuras de bronze representavam almas dos defuntos que repousavam naquele local. A inscrição adornava uma porta que, quando aberta revelaria os verdadeiros nomes dos defuntos ali enterrados.
Ele não os leu. Limitou-se a parar, poisar no chão a caixa de cartão com as cinzas do pai e a abri-la para retirar o saco de plástico.
Desceu os degraus para o primeiro terraço. Aqui estavam enterrados os corajosos homens da ilha que tinham dado a vida na Primeira Guerra Mundial. Encontravam-se sob os antigos ulmeiros em filas precisas, marcadas com azevinho e piracantos. Frank passou por eles e continuou a descer.
Sabia em que ponto do cemitério teria de dar início à sua cerimônia solitária. Aí as pedras tumulares indicavam campas mais recentes do que as da Primeira Guerra Mundial, todas elas idênticas. Eram de simples pedra branca decoradas apenas com uma cruz, cuja forma idêntica serviria para as identificar, sem qualquer dúvida, se os nomes não tivessem sido gravados.
Frank desceu até este grupo de sepulturas. Eram cento e onze. Por isso, meteria cento e onze vezes a mão no saco das cinzas e cento e onze vezes deixaria os restos mortais do pai passarem-lhe por entre os dedos para ficarem no local do eterno descanso daqueles alemães que tinham vindo ocupar a ilha de Guernsey e que ali tinham morrido.
Deu início ao processo. A princípio pareceu-lhe horrível pois a sua carne viva entrava em contacto com os restos incinerados do pai. Quando o primeiro fragmento de osso lhe raspou a palma da mão, estremeceu e sentiu o estômago revoltado. Fez uma pausa e acalmou-se. Leu todos os nomes, as datas do nascimento e da morte enquanto entregava o pai à companhia daqueles que escolhera como camaradas.
Viu que muitos deles não passavam de rapazes, dezanove, vinte anos que poderiam ter saído de casa pela primeira vez. Perguntou a si próprio
604o que teriam sentido naquele pequeno local que era a ilha de Guernsey, depois de terem vivido na terra enorme de onde tinham vindo. Não lhes teria parecido que tinham sido colocados noutro planeta? Ou fora apenas uma abençoada salvação do combate nas linhas da frente? O que teriam sentido ao ver-se com tanto poder e ao mesmo tempo tão desprezados?
Mas era evidente que nem todos os haviam desprezado. Era a tragédia daquele local e daquele tempo. Nem todos os tinham visto como um inimigo.
Frank movimentava-se mecanicamente por entre as sepulturas, descendo fileira após fileira até ter esvaziado completamente o saco de plástico. Quando terminou, dirigiu-se ao muro do cemitério e aí ficou por uns momentos, olhando para a colina e para as sepulturas.
Viu que, embora tivesse deixado uma pequena mão-cheia de cinzas em cada sepultura alemã, não restavam quaisquer vestígios do pai sobre elas. As cinzas tinham-se depositado no azevinho e nas trepadeiras que cresciam sobre as campas e aí se transformaram em simples poeira, uma leve camada como uma bruma efêmera que não sobreviveria à primeira rajada de vento.
O vento chegaria, trazendo a chuva. Esta engrossaria os ribeiros que desceriam as encostas até aos vales e daí até ao mar. Parte da poeira em que o pai se transformara juntar-se-ia aí. O resto ficaria, parte na terra que cobria os mortos, parte na terra que daria alimento aos vivos.
Elizabeth George
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















