



Biblio "SEBO"




O desejo perfeitamente natural de conhecer o país do seu pai mergulhou Zana e Nadia numa situação trágica. Essas duas jovens inglesas, nascidas e criadas em Birmingham, perfeitamente integradas no seu meio e cuja vida era idêntica à de todas as adolescentes da sua idade, foram vendidas pelo pai, casadas à força e retidas no Iémen contra sua vontade. Para sobreviverem, tiveram de se integrar numa sociedade retrógrada e de se tornar escravas da sua segunda cultura.
Aí, brutalmente separadas da família, incapazes de comunicar com o seu meio envolvente, já que não falavam árabe, tiveram de viver cada qual numa aldeia diferente. Nada resiste à solidão, nem mesmo a mais tenaz das vontades. Nada é mais difícil do que readquirir coragem quando não há ninguém para nos apoiar... Zana, porém, nunca deixou de lutar...
Quando estava retida como refém no Irão, eu mesma fiquei surpreendida com a força e a determinação de que consegui dar mostras ‑ mas eu era uma mulher adulta. Zana não passava de uma criança. Onde terá ela descoberto uma tal coragem?
Zana e Nadia permaneceram detidas no Iémen durante sete anos antes do seu caso ser tornado público. Quando os media alertaram a opinião mundial, o governo iemenita teve de tomar uma decisão para salvar a face. Zana não perdeu essa oportunidade de fugir, mas para regressar a Inglaterra e tentar salvar a irmã teve de deixar para trás o filho de dois anos.
Ao contar, hoje, a sua história, Zana dá testemunho de uma realidade que muitos têm ainda dificuldade em reconhecer. Fala também em nome das mulheres do terceiro mundo, que nunca tiveram oportunidade de dar testemunho do seu sofrimento porque estão oprimidas e subjugadas.
Sempre que uma voz se ergue contra a opressão, faz eco das vozes que se ergueram antes dela e daquelas que um dia se hão‑de erguer.
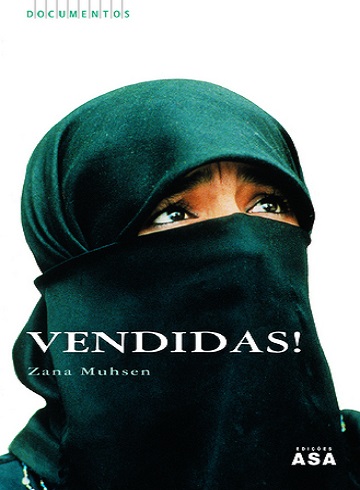
Chama‑se Mackenzie. Eu chamo‑lhe Mackie. É mais engraçado. Amo‑o e estou certa de que ele me ama. Mas aos quinze anos as coisas não se dizem assim.
Diz‑se:
‑ Vais sentir a minha falta, Mackie?
‑ Vou... Mas tu, vais de férias, isso é óptimo. Eu fico em Birmingham o Verão inteiro, uma estopada.
E então terminada a dança, chegada a hora de nos separarmos, para o papá e mamã não darem escândalo, dizemos de novo:
‑ Bem, então adeus Mackie... - E o beijo, ao canto dos lábios, diz o resto.
- Adeus...
E o olhar que se demora diz ainda um pouco mais.
Foi ontem, era à noite. Ao alvorecer, no aeroporto de Londres, após horas de caminho de autocarro, uma chávena de chá e um sonho constituem a minha ração de sobrevivência. O papá e a mamã não despregam de mim o olhar e eu estou terrivelmente nervosa.
‑ Mamã? Se eu não gostar daquilo, posso voltar logo?
- Claro, podes voltar quando quiseres... O que é que se passa? Parecias tão contente por partir.
‑ Nada... está tudo bem, só que... se não gostasse...
‑ Tu, que gostas tanto de sol, isso admirar‑me‑ia... logo que lá estiveres, esqueces a Inglaterra.
Inibi‑me de fazer a pergunta diante do papá e dos seus amigos, para não os vexar. O papá deixou‑me partir com eles para o Iémen, seu país natal. Abdul Khada e o seu filho Mohammed convidaram‑me para casa deles, viajam comigo, são muito simpáticos e generosos. Uma tal pergunta da minha parte tê‑los‑ia ofendido seguramente.
Abdul Khada é um amigo do meu pai, de quarenta e cinco anos, cabelo preto frisado, bigode extremamente farfalhudo e uma elegância algo contraída. Ao lado do meu pai, sempre ligeiramente curvado, mantém‑se erecto, com ar de seguro de si, dominador, apesar da sua estatura relativamente modesta. O seu filho mais velho, Mohammed, mais baixo, corpulento, gordo mesmo, parece simpático, como frequentemente os gordos, mais afável e caloroso. Na realidade, o pai tem uma cara rebarbativa, a dar para o feio, enquanto que o filho é atraente. Mohammed é casado e tem dois filhos. Em verdade, sei pouca coisa acerca deles. Eles são, acima de tudo, os amigos do papá.
- Tens medo do avião, Zana?
‑ Não há‑de ser nada, mamã...
Na verdade, tenho medo, mas não me agrada dizê‑lo. É esse o meu carácter. Mentalmente, sinto‑me forte, sólida. Contudo, este baptismo de voo, que me vai levar para milhares de quilómetros de casa, provoca‑me uma espécie de tremura interior, a impressão de que o perigo me espreita, com um buraco estranho no estômago, mais como uma bola de vazio. Não sei como identificar esta sensação. Digamos que esta primeira viagem de avião, a primeira da minha vida de adolescente, é emocionante, mas eu não o confessaria.
‑ Preferia partir ao mesmo tempo que a Nadia.
‑ A tua irmã vai ter contigo dentro de quinze dias apenas, nem sequer hás‑de dar pelo tempo a passar.
A mamã tem confiança em mim, sabe‑me razoável. Verifica a minha compostura, alisando‑me ao de leve a saia às flores.
‑ Vais aproveitar o sol de lá. Escreves‑me à chegada, logo que tiveres visto o teu irmão e a tua irmã. Onde está a tua mala?
Tenho a mala entre os pés calçados com sandálias de couro. Só levo roupas leves, uma muda de saias e.T‑shirts, alguns artigos de higiene, os meus preciosos livros e a minha música. Aquela é a minha primeira mala, novinha, castanha; a da Nadia é azul. Corremos os grandes armazéns de propósito, na semana anterior, e eu estava mais contente do que hoje com a ideia de ir de viagem.
Homens de negócios, armados com as suas attaché‑cases, correm para apanhar os primeiros aviões da manhã. De súbito, o aeroporto anima‑se, o painel luminoso crepita, afixando números de voos para todo o Mundo. É um espectáculo fascinante. Todas aquelas luzinhas representam quase todo o Planeta e aqui, na sala de espera, dou‑me estupidamente conta de que o Mundo é enorme.
O meu pai e os seus amigos voltam do terraço, de onde se vêem os aviões descolar. Por detrás do seu bigode hirsuto, o papá está bastante sorridente. De mãos nos bolsos, o corpo ligeiramente inclinado para a frente, os ombros flectidos, na sua atitude preferida, conversa em árabe com os seus amigos. O sorriso é raro nele. A sua cara e a sua habitual expressão taciturna dão‑lhe mais o aspecto de um ser ávido de natureza.
‑ És respeitosa com o meu amigo Abdul Khada, quando estiveres com a familia, mostra‑te bem‑educada.
‑ Sim, papá.
‑ Vamos, está quase na hora!
Abdul avança à nossa frente, seguido do seu filho Mohammed. Apresenta os passaportes, os bilhetes, e trata das formalidades enquanto que eu abraço a mamã em frente da cancela que nos vai separar. O meu nervosismo aumenta. O papá, que não é do tipo terno e só dá beijos nas festas sagradas, inclina‑se, com um último conselho, para um beijo rápido que mal me aflora a cara:
‑ Confio‑te ao meu amigo Abdul Khada, que é um homem muito respeitado na sua terra. Ouve o que ele diz, obedece. O seu convite é muito generoso... Estás‑me a ouvir, Zana?
‑ Sim papá.
Oiço como que por entre um nevoeiro, montes de ideias estúpidas atropelam‑se‑me na cabeça: "E se o avião cair? E se eu decidisse não partir agora, esperar pela Nadia?" Impossível, o papá teria um terrível acesso de fúria. Enquanto judiciosamente transponho a alfândega e a polícia, seguindo os meus dois guias, vejo a minha mala afastar‑se em cima do tapete rolante e desaparecer por detrás das pequenas cortinas de plástico, que voltam a fechar‑se com um estalido definitivo. Estamos de partida, viro o pescoço para dizer mais uma vez adeus à mamã. Gostaria que ela também viesse. Sinto‑me vulnerável, sozinha com estes dois homens de bigodaça e olhar sombrio.
Diante de nós, o enorme terreiro. O avião, ao fundo da pista. O vento cola‑me a saia de flores às pernas. De respiração algo entrecortada, volto‑me, para tentar vislumbrar uma vez mais a mamã por detrás dos vidros do terminal, mas já não consigo distinguir as caras. Como cabelos a cada rajada de vento. O gosto do shampoo da véspera fica‑me no canto dos lábios, misto de baunilha e mel que cheira a férias.
Esta viagem será formidável, magnífica, coisa de que, desde o princípio, eu e Nadia não deixámos de nos convencer. Simplesmente, tenho medo de subir para aquela águia grande, imóvel, que espera, de borco, escancarada para me engolir inteira. Quanto mais avanço, mais ela cresce! Nunca teria imaginado que um avião fosse tão grande. Nunca tinha visto nenhum de perto, só quando eles passavam pelo céu de Birmingham como flechas reluzentes, com a sua cauda de fumo branco.
O meu coração bate: "Vou de férias, vou de férias." Não paro de repetir para comigo a fórmula mágica. Parto para seis semanas de sol, de mar, de liberdade, de descobertas, com desconhecidos, para um país desconhecido. Eis‑me, pela primeira vez, atirada para o Mundo.
Ainda na véspera o papá dizia, ao ver‑nos sair, à minha irmã e a mim:
- Não venham tarde! Tenham cuidado com os rapazes! Não falem com os desconhecidos na rua!
Continua rígido e picuinhas em relação à educação das filhas.
Ainda ontem eu estava protegida, no nosso meio, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, com o papá e a sua autoridade, a mamã e o seu sorrisinho triste. A Nadia e eu festejámos a nossa partida para férias com uns amigos e por uma vez o nosso pai se não mostrou demasiado exigente em explicações. Antes pelo contrário, mostrou‑se mesmo simpático. Habitualmente, quando quero sair para ir ter com a minha amiga Lynette, por exemplo, ou simplesmente para sair um pouco de casa, suspeita sempre de qualquer coisa de anormal. Optei, por isso, na maioria das vezes, por me escapulir sem dizer nada, contando com a mamã para as consequências. Se ele soubesse que eu fumo, se ele soubesse que tenho um namorico... Que história! Apanhava por certo um tabefe e uma descompostura a propósito dos costumes dissolutos da juventude inglesa. às vezes, detesto‑o. Tenho quinze anos, farei dezasseis este Verão, e gostaria de um pouco mais de liberdade. A Nadia também. Em Birmingham, as raparigas da nossa idade são muito mais livres com os seus pais.
Ao subir aquela escada atrás de Abdul Khada, ao voltar‑me uma vez mais para ver o terminal, agora tão longe, torno a pensar na minha irmã para esquecer este avião.
Pobre Nadia, aquela história descabida do pretenso roubo do expositor impede‑a de partir ao mesmo tempo que eu. Teve de esperar pela autorização da assistente social encarregada de a vigiar e de repente as datas de viagem deixaram de poder coincidir. A mulherzinha foi mesmo lá a casa, para se informar da razão destas férias no estrangeiro. A mamã explicou‑lhe tudo, os amigos do papá, a oportunidade de conhecer os nossos irmãos e irmãs, o sol, que não nos faria mal... É verdade que em Birmingham o sol frequentemente se esquece de nós.
Em princípio, só a Nadia devia partir. A Ashia, a nossa irmã mais nova, e eu estávamos um pouco invejosas. Para Ashia, foi a negativa. Era pequena demais. Eu insisti. Primeiro, no interesse de Nadia. Aborrecia‑me vê‑la partir sozinha. Nunca foi a parte nenhuma sem mim. Depois, pelo Iémen. O papá falava‑nos de um país magnífico, gabava a beleza das paisagens, as travessias do deserto em camelo, as casas alcandoradas nas falésias e sobranceiras ao mar azul, a areia dourada, as palmeiras, o sol, os castelos no cimo das dunas, as casas coloridas...
Imaginávamos esse país como aqueles cenários maravilhosos que se vêem nos anúncios de refrigerantes ou de barras de chocolate, um lugar de sonho. Além disso, ao anunciar‑lhe esta viagem, o papá dissera à Nadia:
‑ Na quinta dos meus amigos, poderás montar a cavalo, em pêlo, e galopar ao sol.
Eu sonhava com isso. Como sonhava em ver pela primeira vez o meu irmão e a minha irmã. Eles, foram para lá um dia, muito antes de eu nascer, com três e quatro anos de idade, e o papá quis que ficassem com os meus avós. Sei que, de início, a mamã não estava de acordo. Estava mesmo tentada a mandá‑los voltar, mas devido à sua dupla nacionalidade anglo‑jemenita, não o conseguiu. Hájá alguns anos que ela não fala disso e ninguém em casa evoca esse assunto. Os filhos mais velhos da familia vivem no Iémen, tão‑só. Em Birmingham, somos cinco: a Nadia, a Ashia, a Tina e o nosso irmão mais novo Mo, o último da família.
Suponho que a mamã se resignou à vontade do papá. É ele o homem, o varão, o chefe. No entanto, ao fim de todos estes anos e de todos estes filhos, eles nunca se casaram. Mas todos nós nos chamamos Muhsen, o apelido do pai.
Assim, eu, Zana Muhsen, tenho um apelido e um nome próprio iemenita, mas sou inglesa em todos os poros da minha pele e todos os recantos do meu cérebro. A Nadia é como eu, e, sendo diferente, parece‑se comigo. Sinto‑a mais frágil e ingénua do que eu.
Em relação àquela história completamente absurda de roubo, por exemplo, eu ter‑me‑ia batido com todas as minhas forças, com unhas e dentes de fora. Ela submeteu‑se à injustiça. Quando se limitara a agitar uma pulseira, gritando: ‑ Compras‑ma, mamã? ‑, o vendedor pretendeu que ela a tirara do expositor para a roubar. Resultado: queixa, juiz, tribunal e multa, mais a vigilância daquela tal assistente social. E o papá teve muita dificuldade em aceitar aquela história. Não nos acompanhou ao tribunal, mas não parou de se queixar junto dos seus amigos árabes. Tinha "vergonha" de ver arrastar o seu nome na lama. A sua filha estava "marcada"... Era uma "ladra desprezível" e ele ia repor‑nos no bom caminho, ensinar‑nos a forma de nos comportarmos como verdadeiras mulheres árabes! Segundo ele, encontrávamo‑nos em perigo moral. Estávamos proibidas de usar mini‑saias, de nos darmos com os pretos e de ouvir música de "negro"!
Suponho que talvez aquele vendedor fosse racista, como o papá. A Nadia e eu temos a pele trigueira, assim como a mamã, que já é mestiça, nascida de pai paquistanês e de mãe inglesa. Isso dá‑nos um aspecto "exótico".
Eu pergunto muitas vezes à mamã:
‑ Mas o que é que o papá tem contra os negros?
‑ Não sei, pergunta‑lhe...
Nunca me atrevi a perguntar‑lhe. Limitei‑me ajulgar entender que, no Iémen, os negros eram escravos e que ele continuava a considerá‑los como tal, inferiores.
Quando, no café‑restaurante do papá, ajudamos no serviço, para os pratos de fritos e de peixe, é‑nos permitido falar com os clientes negros, muito obrigado! Em contrapartida, mal estamos na rua, há a proibição paterna de lhes dirigirmos a palavra... Se ele soubesse que tenho um namoradinho das Antilhas!
Abdul Khada faz‑me sinal para ocupar um lugar entre uma senhora e ele. Mohammed instala‑se um pouco mais afastado.
Por enquanto, roo uma unha e de bom grado fumaria um cigarro, mas os letreiros impedem‑mo. A angústia da descolagem reapossa‑se de mim. A angústia do desconhecido também. Parece que vamos voar durante dez horas, até a uma escala na Síria. Depois, mudaremos de avião, para irmos para Sanaa, a capital do Iémen do Norte. Cidade lendária, misteriosa e magnífica, parece. Daí dirigir‑nos‑emos, não sei como, para a aldeia de Abdul Khada.
Vejo‑me já estendida ao sol, de olhos postos no céu, com os pés no Mar Vermelho. Será como que um fabuloso banho de areia, de água e de luz. A Nadia e eu regressaremos douradas como mel de acácia e revigoradas para muito tempo. Quando voltar, terei dezasseis anos e farei o meu curso de puericultura. Adoro crianças. A Nadia voltará para o colégio por mais algum tempo.
Os reactores rugem, cruzo os dedos para esconjurar a má sorte e entabulo uma conversa nervosa com a minha vizinha. Devo falar realmente muito depressa, pois ela tranquiliza‑me:
‑ Não tenha medo, tudo há‑de correr bem, os reactores vão fazer mais barulho ainda, depois o avião vai rolar sobre a pista, descolará e nós descobriremos toda a cidade lá de cima, vai ver, é magnífico quando o céu está limpo.
Tenho as mãos húmidas. As articulações dos dedos embranquecem, à força de apertar os apoios dos cotovelos como se me fosse afundar a todo o momento.
Nesse minuto tenho um pressentimento, mas tão vago que não consigo defini‑lo. Deve ser o medo da descolagem. Afinal, isso é decerto normal da primeira vez. Mas sinto já saudades da mamã. Tremendamente. Não sei porquê, volto a pensar naquele dia em que, correndo na rua, fui abalroada por um carro. Tinha mais ou menos cinco anos. Revejo‑me voar pelo ar, com a sensação de atravessar o tempo e todas as eras do Mundo. O carro projectou‑me tão alto que tornei a cair no chão, de cabeça para diante, sobre os joelhos, na posição de um feto. Ouvi chegar a ambulância, sem me mexer, sozinha no asfalto, com o meu sofrimento e o meu medo.
Essa é, até agora, a minha única recordação triste. Gosto da minha vida em Birmingham, gosto da minha família, do meu futuro, dos meus amigos e do Mackie. E de música. Como não estou junto da escotilha, a visão planetária de Londres escapou‑me. Deixo o meu país de olhos fechados, até que o avião retome a horizontal e que a tremura, lentamente, me abandone.
Ao meu lado, Abdul Khada já ressona. Ressonará durante dez horas, até à Síria.
Uma sensação de calor asfixiante tolhe‑me a garganta; com o peito oprimido, desço a es cada do avião sem saber de todo onde estamos. Julguei ouvir, alguns minutos antes da aterragem, que estávamos a chegar a algum lado, mas sem conseguir compreender exactamente aonde. Aliás, eu estava por demais ocupada a cerrar os dentes para fazer a mais infima pergunta a Abdul Khada.
- De onde vem este calor? São os reactores do avião?
Ele solta uma gargalhada.
- Isto éo tempo, é a temperatura normal aqui,já não estás na velha e húmida Inglaterra!
A minha reflexão divertiu‑o muito e ele olha‑me com um arzinho superior.
‑ Onde estamos nós?
- Na Síria.
"O que faço eu, Zana Muhsen, na Síria? Porque é que não fiquei em Sparkbrook com a mamã e a Nadia?" Bem posso olhar à minha volta que nada vejo de anormal. Toda a gente caminha tranquilamente pela pista em direcção aos edifícios do aeroporto, ninguém parece encontrar o que quer que seja de estranho. Excepto o facto de a respiração se tornar um exercício penoso. O nariz seca, os pulmões retraem‑ se, esfalfamo‑nos à procura de ar. Então, digo para comigo: "Bem, haja calma, nada está a correr mal, vais de férias, fizeste uma escala na Síria, na realidade estás de viagem. São as surpresas do clima. E a Nadia em breve vai ter contigo. Não vale a pena perder a cabeça."
Caminho como os outros, com os outros, para apagar do espírito este desejo brutal de procurar uma porta de saída, alguém a quem dizer: "Por favor, leve‑me para casa."
Está tanto calor cá dentro como lá fora, muita gente deambula, arrastando consigo malas e embrulhos, à procura, como nós, do seu avião de correspondência. Abdul Khada informa‑se, em árabe, e traduz‑me:
- Temos de esperar, há ali uma sala, o avião só chega daqui a um bocado.
Pensei que um bocado... seriam alguns minutos, mas os minutos correm e transformam‑se em horas. Outros esperam como nós, mexem‑se, estendem‑se nos bancos de madeira, parecem achar tudo aquilo costumeiro, normal. Pressinto‑os familiarizados com aquele género de esperas intermináveis. Não têm a minha impaciência e não sofrem com aquele calor tórrido. Encharco‑me em Coca‑Cola, transpiro e volto ao princípio. Cada garrafa ingerida torna a desaparecer sob a forma de água. Debaixo da minha T‑shirt nascem incessantemente regos de transpiração. A planta dos pés cola‑se‑me ao interior das sandálias de couro. Daria o que quer que fosse para tomar um duche fresco.
Ao cabo de uma hora, ou mais, decido ir aos lavabos para me refrescar. Abdul Khada indica‑me o local uma porta ‑ e ao abri‑la o odor apodera‑se de mim. Um cheiro nauseabundo. É uma pequena divisão, pejada de gente que espera, e as latrinas estão à vista, simples buracos no chão, imundícies por todo o lado. Sufocada, torno a sair logo a seguir e precipito‑me para Abdul, para lhe explicar.
‑ Há certamente outro sítio para os turistas? Lavabos limpos, normais?
Ele tem de novo aquele riso, os dentes brancos sob o bigode, como se eu tivesse proferido uma estupidez.
‑ Não sejas tão esquisita!
Deve tomar‑me por uma inglesa pretensiosa, mas como fazer para nos refrescarmos num sítio tão fedorento? Saí tão depressa que nem tive tempo de vislumbrar uma torneira. De resto, por certo que não existiam. Água. Dir‑se‑ia que a água não existe.
Torno a sentar‑me no banco de madeira, sem nada acrescentar. Antes morrer que lá voltar.
Aqui, o tempo não passa, estagna. Chegámos ao princípio da tarde. Agora a noite cai e a multidão reduz‑se pouco a pouco, à medida que os aviões iluminados atraem grupos de pessoas como borboletas da noite.
Tendo‑se esvaziado o aeroporto, as poucas conversas ecoam como numa igreja. Abdul Khada e Mohammed não são muito faladores e sinto‑me cada vez mais deprimida. Encontramo‑nos aqui há sete horas. A noite caiu por completo. Lá fora apenas se vêem algumas luzes vermelhas ou brancas. Estou farta de Coca‑Cola, suja, empoeirada, e tenho dores de cabeça.
Por fim, um homem vem fazer‑nos sinal para abandonarmos a sala de espera, e o pequeno grupo desagrega‑se. Satisfaz‑me fazer, enfim, qualquer coisa, mexer‑me, caminhar na noite morna, mas aquilo que vislumbro à nossa frente não é reconfortante. Um pequeno avião, nada a ver com o Jumbo a jacto que nos trouxe até aqui. Tem um ar tão miserável, tão frágil. Um passarinho vulnerável.
Desta vez instalo‑me junto da escotilha sobranceira à asa. Infelizmente para mim, pois no momento da descolagem essa asa começa a estremecer de tal forma que temo vê‑la despedaçar‑se.
O tempo pára uma vez mais. Horas intermináveis. São cinco da manhã e estamos a chegar a Sanaa quando, enfim, uma voz fanhosa fala pelo altifalante. Li num prospecto inglês que essa cidade é por vezes designada "o tecto da Arábia".
Os sobressaltos do pequeno avião já não me amedrontam, dado estarmos a chegar. Olho o céu azul e rosa através da escotilha. Chegámos enfim ao Iémen, vou finalmente poder refrescar‑me e restabelecer‑me um pouco.
Na pista, o ar que nos acolhe é completamente diferente do de Damasco. Tão leve, tão puro, que atordoa e tira o fôlego. Isso a acrescer ao cansaço de todas aquelas horas de viagem e de espera sem sono e sem alimento, sinto‑me completamente ébria.
‑ Aqui está mais fresco...
Abdul Khada respira a plenos pulmões o ar do seu país e diz, sorrindo:
‑ Sanaa é a cidade mais fresca do Iémen, mas ainda é cedo...
‑ Para onde vamos agora?
‑ Para Taez, no Sul, não longe da minha aldeia. Vais conhecer a minha família.
Este aeroporto, que atravessamos por entre o ar leve, está construído fora da cidade, no deserto. Nas cercanias, nada. De novo uma sensação estranha ao vermo‑nos numa pista de betão, com aquela paisagem à nossa volta.
Ao chegarmos ao edifício da alfândega, noto que, na fila, os viajantes me olham com ostentação. Pelo menos, para as minhas roupas, que não para a minha cara. Trago uma T‑shirt de algodão e uma saia às flores que me tapa os joelhos, não vejo em mim nada de especial, e no entanto os olhares são insistentes. Sobretudo os dos homens, pois as mulheres são menos numerosas, usam véu e vestido comprido. Aquela curiosidade é‑me algo irritante.
‑ Porque é que eles olham assim para mim?
Continuando a sorrir, Abdul Khada responde negligentemente:
‑ Não leves a mal, não há por aqui muitas mulheres vestidas como tu, não estão habituados. Mas nas cidades, há muitas mulheres modernas e que se vestem muito pior do que tu!
"Muito pior do que eu? Então visto‑me mal, de forma indecente? É bom que saiamos daqui depressa. De resto, gostava de ver o deserto."
Este deserto é decepcionante, não tem nada da paisagem romântica, ondulante, de dunas de areia, que vemos nos filmes, como eu esperava. Vislumbro apenas algumas casas de pedra degradadas, que parecem abandonadas, e à nossa frente trilhos de pistas sinuosas.
Passados dez minutos, um táxi, um grande automóvel branco, pára diante de nós para nos levar. Lá dentro há seis lugares. Abdul, Mohammed e eu instalamo‑nos à retaguarda. Esta deve ser aqui a forma de levar seis pessoas num táxi, de uma assentada. Tenho tanta fome, tanta sede, tanto sono, e estou de tal forma desiludida com esta chegada desértica e com a viagem que se anuncia que nem sequer observo a paisagem. Parece que temos de rodar quatro horas antes de chegar a Taez.
Os dois homens conversam em árabe com o motorista e eu cabeceio, embalada pelos solavancos da estrada, não tendo nem vontade de fazer perguntas nem de que eles me traduzam a sua conversa. Nada me interessa, gostava de recuperar, de dormir, dormir, e dormir mais ainda, mas se possível numa boa cama, e depois de um duche e de uma refeição conveniente. Há vinte e quatro horas que não consegui nem lavar‑me, nem comer, nem dormir...
Finalmente, Taez, e nova decepção. Tudo se me afigura minúsculo, as ruas estreitas, as casas sujas, as lojas que se ligam umas às outras, uma confusão inextricável, onde, apriori, se não distingue nada de preciso nem de notório. O bairro que atravessamos é sujo, poeirento, e seguramente muito pobre. As casas brancas são de betão, com telhados em terraço e minúsculas janelas gradeadas. E o calor, este maldito calor asfixiante em que se misturam os odores, os persistentes maus cheiros dos animais, os fumos dos automóveis e as especiarias.
O automóvel é constantemente detido pela turba, que não parece prestar‑lhe mais atenção do que a um burro. Alguns conduzem, aliás, burros e camelos com mais precauções do que o nosso motorista conduz o seu carro.
Só ouço alarido, só respiro poeira, só vejo detritos por todo o lado, frutos podres, restos de comida espalhados ao acaso pela rua, esmagados pelas rodas dos automóveis e pelos pés dos transeuntes.
Nos postais do meu pai, as casas tradicionais, milenares, pareciam magníficas, com as suas cores, as suas esculturas de renda branca. Aqui, muito pelo contrário, só vejo uma amálgama de imundícies, de animais e de táxis.
Algumas mulheres, raras, vestidas à ocidental; todas as outras vestidas conforme a tradição árabe, incluindo o véu. Na realidade, de modernismo, como dizia Abdul Khada, não estou longe de representar o pior.
Casualmente, vislumbro enfim, num cruzamento, algumas casas de cores estranhas, creme, açafrão, que atraem a luz, depois ruínas apenas, pedras amontoadas no chão.
Após a travessia do centro da cidade, Abdul Khada informa‑me, em inglês, de que vamos a casa de um seu amigo.
- Passamos lá a noite, tu precisas de dormir, amanhã partimos de novo para a aldeia.
- Está bem.
Teria aceite o que quer que fosse, desde o momento que se tratasse de parar em qualquer sítio e de nos lavarmos.
O grande automóvel vira com dificuldade para uma rua tão pequena que a carroçaria quase raspa pelas casas, abrindo caminho por entre os transeuntes. Distingo portas de madeira, janelas curiosamente ornamentadas com decorações brancas, paredes de tijolo ou de pedra, mas é‑me impossível ver os andares de cima, pois rasamos as paredes. Abdul Khada e o motorista discutem em árabe, parecem procurar a casa. Finalmente, paramos diante de uma grande porta castanha.
‑ Chegámos... ‑ diz Abdul Khada. E imediatamente a porta gira sobre si mesma, enquanto nós saímos do táxi para o calor e a poeira.
O amigo de Abdul Khada traz um turbante encarnado enrolado na cabeça, uma camisa e uma espécie de saia comprida, de algodão, sem costura, que lhe cai até aos tornozelos. Recebe‑nos sem me prestar muita atenção e não fala uma palavra de inglês.
Penetramos num corredor de betão com o chão coberto por um linóleo com motivos coloridos, depois numa sala bastante grande, onde caminhamos por cima de tapetes, belos tapetes de motivos complicados e tons múltiplos. Algumas esteiras e almofadas servem de cadeiras. Parece‑me que Abdul Khada me disse que o seu amigo era bastante rico... Aparentemente, os únicos sinais de riqueza estão ali. Com uma televisão a um canto e uma ventoinha eléctrica, que refresca um pouco a atmosfera, em cima de uma mesa.
Estou de tal forma cansada, comi tanta poeira e transpirei tanto que tenho os nervos tensos como elásticos prestes a rebentar. O homem conversa durante um instante com Abdul Khada e indica‑me a casa de banho.
‑ Podes ir tomar duche e mudar‑te... Zana.
Entro numa divisão bastante grande, de estilo ocidental, mas sempre ornamentada com um buraco ao jeito de retrete. Pouco me importa, desde que me possa lavar. Este é um verdadeiro duche, e depois de ter vestido roupas frescas sinto‑me um pouco melhor. Na sala, os homens sentaram‑se para conversar e à minha chegada levantam‑se todos ao mesmo tempo. Abdul Khada diz‑me que vão sair para fazer compras, para podermos comer. Nenhum me propõe sair com eles e deixam‑me sozinha naquele grande salão.
Sinto‑me um pouco perdida, sentada em cima de uma almofada a um canto da sala, mas quase de imediato abre‑se uma porta e uma mulher, seguida de duas raparigas, vem instalar‑se ao meu lado. Não as vi ao entrar. Suponho tratarem‑se da mulher e das duas filhas do nosso anfitrião. Aqui, sabê‑lo‑ei mais tarde, as mulheres nunca entram numa sala quando os homens lá se encontram. Tornam‑se invisíveis, aguardando as ordens para os servir ou preparar bebidas, ou apresentar os jovens filhos varões às visitas.
Tenho, desde logo, a impressão de que elas só entraram para me observarem tranquilamente. Não dizem uma palavra de inglês. Bem gostaria de conversar com elas, de fazer perguntas acerca da cidade, acerca da aldeia para onde vou, sobre a distância, mas estou condenada ao silêncio e a um sorriso de tempos a tempos.
O meu cansaço é tão grande, aquela solidão e impossibilidade de comunicar tão estranhas, que sinto de súbito a garganta embargada. Esfomeada, tão longe de casa, debilitada ao ponto de já não aguentar as costas direitas, eis que irrompo em soluços, como se me tivessem abandonado para sempre. Então a mulher abeira‑se de mim e beija‑me nas faces, as filhas aproximam‑se e tentam consolar‑me por gestos, com mímicas, sorriem‑me com o olhar, lastimando‑me, e eu sinto‑me na verdade perfeitamente disparatada por me ter ido abaixo daquela forma. Também por gestos, dou‑lhes a entender que gostaria de um lápis e de papel. Uma das filhas sai e no regresso traz aquilo que eu pedi; agradeço‑lhe com um sorriso e torno imediatamente a desfazer‑me em lágrimas. É impossível impedi‑las de correr. Uma verdadeira crise, silenciosa, enquanto me esforço por desenhar objectos na folha de papel e por escrever a palavra em inglês, ao lado.
Não sei por que faço eu aquilo. Para que serve desenhar uma garrafa, ou uma casa, ou um avião, num pedaço de papel de embrulho, diante de três mulheres árabes, nas entranhas de uma casa de Sanaa, no tecto da Arábia? No entanto, uma das raparigas copia de novo, desajeitadamente mas com boa vontade, tudo aquilo que eu faço. Desenhos e palavras. E quanto mais eu choro mais a mãe se entristece, ao ponto de se pôr a chorar juntamente comigo. De tal forma que no regresso dos três homens, estamos as duas transformadas em fontes de lágrimas. Abdul Khada parece surpreso e preocupado.
‑ O que é que se passa? Por que estás tu a chorar dessa forma?
‑ Não sei, pergunte antes a esta mulher por que chora ela!
Ele interroga então a mãe em árabe e traduz‑me:
‑ Ela chora porque está desolada por ti, gostaria muito de falar contigo, mas é incapaz.
O olhar daquela mulher está cheio de intensa compaixão. É verdade que ela parece sentir para comigo uma real comiseração. Na altura, não compreendi a sua atitude, mas ela "sabia". Desejaria ter‑me prevenido do perigo. Estou‑lhe grata, mas infelizmente já era tarde demais. A armadilha estava montada, já nada me podia salvar naquele dia de Julho de 1980, em que eu ainda me julgava de férias. Não havia a menor saída de emergência. Eu estava presa. E não o sabia. Ela julgava ver‑me chorar pelo meu destino. Eu chorava apenas de cansaço e de fome, sem conhecer o meu verdadeiro perigo.
à minha volta, todos falavam em árabe, comiam com os dedos alimentos desconhecidos; julguei reconhecer frango cozido, bolachas de farinha com manteiga, frutos; bebiam qualquer coisa branca, um género de leite coalhado. Eu pensava vagamente na mamã, na Nadia, em Inglaterra, no restaurante onde tínhamos de servir as batatas fritas e o peixe, a cerveja em canecas, na música, nos meus amigos... Tudo aquilo me parecia já tão distante, estava verdadeiramente perdida, sozinha no tecto do mundo árabe.
Pouco comi. Tinha o estômago vazio, mas o meu cansaço era demasiado para poder saciar‑me convenientemente. Só pensava em dormir. A mulher trouxe‑me um lençol, deitei‑me sobre uma esteira e mergulhei num sono pesado e profundo, com os olhos a arder de lágrimas secas, como uma criança fatigada.
5 dias sucedem‑se. De manhã, acordou‑me um cheiro agradável a ovos e cebolas. Os choros da véspera estão esquecidos. Levanto‑me, lavo‑me, e, em muito melhor forma, como com apetite. Já só penso nas férias. Despedimo‑nos da família e pergunto a Abdul Khada se podemos dar um passeio pela cidade.
‑ Gostava de comprar recordações para levar para casa.
- Terás todo o tempo para o fazer mais tarde. Hoje, partimos para as colinas do Maqbana.
- Onde é que isso fica?
‑ No sul.
- O que vamos nós lá fazer?
- Ver o resto da minha família, ficaremos em minha casa.
‑ É longe?
‑ O caminho é longo e difícil, a estrada não está toda alcatroada, só ao princípio.
Todos aqueles nomes, Maqbana, Taez, me não dizem absolutamente nada. Nunca vi um mapa do Iémen, não havia nenhum em Birmingham. A experiência da véspera leva‑me a tomar precauções. Levo comigo frutos e caramelos de sumo de laranja, para não ter fome nem sede.
Deixamos a casa, fresca e calma. Logo que transposta a porta, somos de novo completamente dominados pelo calor e pela poeira. Sobretudo pelo calor, como uma massa asfixiante, que sedenta e provoca um nó no estômago.
‑ Devias mandar uns postais para casa e dizer‑lhes que está tudo bem, que chegaste bem. Ponho‑os no correio na cidade, chegam mais depressa a Inglaterra.
Abdul Khada tem razão e imediatamente me encarrego dessa tarefa. Para a mamã, um postal representando Bab aí yaman, que não vi, cuja localização ignoro, mas que a cores é bonito. Um outro para a Lynette, com casas de tijolo vermelho e janelas brancas. Abdul Khada pede‑me que me despache. Vislumbro de passagem lojas de roupa, de cerâmica, de legumes, expositores de qat, aquelas folhas que os iemenitas mastigam. Não há tempo para divagar, Abdul Khada mete ao bolso os postais em que, de pé na rua, escrevi duas frases rápidas.
‑ Como é que se vai para a aldeia? De táxi, como ontem?
‑ De Land Rover, é o único automóvel que consegue circular na estrada das colinas.
Aguardamos, debaixo do sol, a chegada do veículo, que ele alugou especialmente para a viagem.
‑ Não há autocarro?
‑ Para lá, não.
Lá... nas colinas do Maqbana, é tudo quanto tenho de saber. Abdul Khada poucas informações turísticas dá. O Sol está no seu zénite quando finalmente subimos para o Land Rover. Se bem entendi, o condutor é o marido da sobrinha de Abdul Khada. Leva a crer que este homem é parente de toda a gente que encontramos.
Não somos os únicos viajantes: doze passageiros, contando com Abdul Khada, com Mohammed e comigo. E duas mulheres apenas, sentadas à frente, completamente cobertas de preto. São umas privilegiadas, pois nós amontoamo‑nos todos na retaguarda, acotovelando‑nos, apertados como sardinhas.
Durante cerca de uma hora, a estrada é relativamente plana e lisa. Dizem‑me que foi construída pelos alemães. A paisagem circundante nada tem de cativante. Silvados, terra árida e, lá em cima, o Sol. A única distracção são as barragens na estrada e as verificações de documentos. De trinta em trinta quilómetros, ou quase, o Land Rover é detido por soldados armados, por polícias.
‑ Porque é que eles, aqui, fazem isto tantas vezes?
Abdul Khada encolhe os ombros distraidamente.
‑ É para verificar a licença de viagem.
‑ Não se pode viajar sem licença?
‑ Não. Cada tribo tem as suas fronteiras. Dantes, havia muitas guerras entre tribos, pessoas que se matavam; o exército está à espreita e agora há paz.
A paz, mas eles estão todos armados com espingardas e não param de pôr o dedo no gatilho, como se estivessem prontos a disparar. A maioria dos homens mastiga qat, a droga local. Olhos pretos, bigodes, espingardas, tudo menos apaziguadores. Mas há um tal número de barragens desse género que acabo por me habituar; de resto, os soldados não parecem interessar‑se particularmente por um ou outro de entre nós. Observam os papéis e fazem sinal para seguir.
Ao cabo de uma hora deixamos, pois, a estrada, para tomar um caminho que leva às colinas. A paisagem continua igualmente monótona, uniforme. As aldeias sucedem‑se e assemelham‑se. Por vezes, algumas ruínas. Pedras caídas no chão, estaladas pelo calor. O cenário é hostil. Só de quando em quando vislumbro algumas silhuetas furtivas. De tempos a tempos, uma criança escanzelada, e alguns carneiros, ou uma vaca, no deserto pedregoso. Pergunto‑me o que arranjarão aqueles animais para comer, à parte as esporádicas urzes ressequidas. à passagem do Land Rover, algumas galinhas, entretidas a debicar nos escombros de velhos edifícios esboroados, dispersam‑se, cacarejando. Matilhas de cães escanzelados revolvem o lixo em frente das casas, devorados pelas pulgas, coçando‑se como histéricos.
Por vezes, quando o Land Rover atravessa pequenas aldeias, passamos por mulheres veladas, que transportam jarros ou bidões de água à cabeça. Aí, o espectáculo é menos sinistro. Os homens estão sentados diante das casas e conversam, e logo que o automóvel abranda à sua frente param de falar e encaram os passageiros. Devo chamar particularmente a atenção, pois eles fitam‑me intensamente. Os seus olhos não me largam um segundo, como que fascinados e reprovadores, enquanto alguns passageiros descem.
Por vezes, alguns interpelam Abdul Khada, sem pararem de mastigar o seu qat e de cuspir jactos de saliva. Suponho que lhe dão as boas‑vindas ao país, porquanto há quatro anos que ele partira. E suponho igualmente que falam de mim. Como não entendo, contento‑me em sorrir e em cumprimentar educadamente com a cabeça, para imediatamente desviar o olhar.
"Sê bem‑educada e respeitadora", recomendou‑me o papá. Sou‑o tanto quanto me é possível.
As casas são todas iguais, os mesmos telhados achatados, as mesmas paredes de uma cor estranha, castanho sujo, o que se compreende. O material empregue, explica‑me Abdul Khada, é essencialmente bosta de vaca seca, aplicada sobre pedra. Dir‑se‑iam velhas de centenas de anos, com as suas minúsculas janelas fechadas por portadas, para as proteger do sol. Nem uma verdura, nem um jardim, ruelas por entre nuvens de poeira.
O tempo passa. O tempo não tem realidade neste caminho de terra e pedregulhos. Parece que vamos para o fim do Mundo.
à tarde, chegamos enfim àquilo que me parece um verdadeiro oásis. Rolámos durante algum tempo ao longo de um rio verdejante, surgiram campos de cultura, árvores de fruto. A aldeia parece próspera.
‑ Onde estamos nós?
- A aldeia chama‑se Risean. Vamos parar para beber.
Aqui, tudo é diferente e simpático. Campos de batatas, cenouras, cebolas, alfaces, couves, plantações de especiarias olorosas e desconhecidas. Apercebo mesmo cepas de vinha, mas sobretudo árvores de fruto em abundância. Um verdadeiro pomar. Amêndoas, nozes, pêssegos, alperces, pêras, limões, e outros que nunca vi. Fico a saber que aqueles estranhos frutos são romãs. O local agrada‑me, é um pequeno paraíso. Espero que a aldeia de Abdul Khada seja assim. Muito gostaria de passar férias num sítio tão encantador e tão limpo.
Nas outras aldeias, só dificilmente vislumbravamos pessoas; aqui, está toda a gente na rua, ao sol, todos a trabalhar. Os camponeses são negros e habitam pequenas casas de palha, cabanas cuja pobreza chama a atenção no meio daquela verdura, daqueles campos cuidadosamente cultivados. Gostava de fazer inúmeras perguntas em relação a eles, mas Abdul Khada apenas consente em dar‑me uma informação: chamam‑se Akhdam e são escravos.
Bebemos um delicioso sumo de frutos encamado, depois Abdul Khada faz sinal para voltarmos para o Land Rover.
Abdul Khada parece muito contente.
- Hás‑de gostar da minha aldeia... - diz‑me ele, sorrindo.
‑ Sim, com certeza.
Estou ansiosa por conhecer mais gente, por travar conhecimentos, por viver a aventura das férias.
‑ Temos belíssimas macieiras, e também laranjeiras.
‑ Deve ser o máximo.
A angústia da véspera desapareceu por completo. Torno a mergulhar na contemplação da paisagem, enquanto espero a chegada à terra de Abdul Khada. Imagino uma aldeia como aquela que acabamos de deixar. Mas eis que o cenário muda de novo. Acolhe‑nos um deserto árido, estalado pelo sol, idêntico ao anterior, triste e sem vida. Aguardo com impaciência o oásis seguinte.
Que não virá. Avançamos por entre as colinas; a estrada, mais um caminho, torna‑se íngreme, e o condutor do Land Rover passa para primeira, para subir ao longo de uma parede quase vertical, batendo em pedras e fragmentos de rocha a cada volta da roda. Eu sou sacudida, balançada, tal como o resto dos passageiros. Subitamente o automóvel detém‑se no meio de parte nenhuma.
- É aqui que descemos ‑ limita‑se a dizer Abdul Khada.
Mohammed desce, eu desço, ele cumprimenta os viajantes, o Land Rover faz meia‑volta numa nuvem de poeira e nós para ali ficamos, com as nossas malas, na berma da estrada.
Olho à minha volta: nem uma casa, nem vivalma, nada. Colinas nuas a perder de vista, algumas moitas dispersas, como tufos de cabelos doentes.
‑ Onde é que o senhor mora?
Ele aponta o dedo em direcção a uma colina por detrás de nós.
‑ Ali em cima.
Abdul sorri de orelha a orelha, pega na minha mala e, lentamente, começamos a subir um caminho pedregoso e a pique. Em direcção a onde? Em direcção a quê? Começo de novo a ficar preocupada. Quem me dera não ter feito aquela viagem, nunca ter partido nem subido para aqueles malditos aviões. As minhas sandálias derrapam e escorregam‑me dos pés a cada pedra; tenho calor, sede, e sinto‑me suja de novo. Quando, finalmente, atingimos o cimo da colina, uma aldeia estende‑se à nossa frente e eu tenho um suspiro de alívio. Não é tão bonita como a anterior, mas vou poder lavar‑me. Há dois dias que isso é uma obsessão. Poeira, calor, sujidade, só penso em meter‑me num duche.
O espectáculo daquela aldeia é curioso. As casas todas iguais, agarradas à colina, ao redor outras colinas, moitas ainda e sempre, algumas árvores, raras. Tudo aquilo parece suspenso entre o céu e a Terra e de lá de baixo, ao primeiro olhar, só se vê uma montanha de poeira branca e aquelas casas fantasmáticas.
- Qual é a sua casa? ‑ pergunto eu educadamente, esperando que Abdul me indique a mais próxima de nós.
‑ Aquela, lá em cima!
Indica com o braço esticado uma casa isolada, para lá da aldeia, no cimo de uma colina mais alta.
Aves de rapina desenham círculos a toda a volta. Aquilo dir‑se‑ia o covil de um urso. A julgar pelo que vejo, é preciso subir a vertente daquele precipício abrupto, por degraus escavados na rocha, para lá chegar.
Fico um instante a retomar o fôlego e a contemplar aquela casa, estupefacta com o seu isolamento. É sobranceira a toda a aldeia e domina aquele universo seco, vazio e selvagem. Vista lá de baixo, parece grande, mas nada acolhedora nem confortável. Como é que se pode viver lá em cima durante um ano ou uma vida?
Avançamos pelo caminho em direcção a uma primeira casa, que Abdul Khada me explica pertencer ao seu irmão Abdul Noor. Um pequeno edifício de rés‑de‑chão, porta única e duas janelas, situado no preciso alinhamento da casa de Abdul Khada, lá em baixo, de tal forma que pondo‑se alguém em pé no telhado da casa lá de baixo, poderia perfeitamente conversar com alguém lá em cima. Na condição de gritar, bem entendido. Mas essa casa é minúscula. É‑me difícil imaginar quem consiga viver lá dentro e como.
Passamos por ela e Abdul Khada conduz‑me à beira do abismo.
‑ Eu não consigo subir isto!
‑ Claro que consegues... olha para o caminho.
Aquilo, um caminho? É quase inexistente e não vejo para onde leva. Ao fim de alguns passos difíceis, surge um minúsculo caminho de cabras ao longo da parede e inicio corajosamente a escalada, esforçando‑me por não olhar para os montes de pedras lá em baixo.
Apenas estamos a meio caminho, os calhaus esboroam‑se sob os meus passos, as minhas sandálias derrapam e eu caio dolorosamente de joelhos por entre uma avalanche de pedras. Solto um tal grito que Abdul Khada me pega por uma mão e me iça, puxando‑me como um peso morto.
É‑nos necessária meia hora para chegarmos ao cume daquele maldito rochedo, onde aquela maldita casa está empoleirada. Estou suada, completamente encharcada, todos os meus músculos crispados. Os dois homens, esses, parecem habituados. Um olhar rápido lá para baixo provoca‑me vertigens. Quando penso que terei de voltar a descer...
Alcandorada lá mesmo em cima, como que no topo do Mundo, aquela casa confronta uma paisagem árida e desolada. Em dezenas de quilómetros e tão longe quanto o meu olhar alcança, só se vêem colinas, montanhas, nada de vivo no horizonte. Aquilo é uma minúscula ilha suspensa. Suspensa no silêncio do crepúsculo. O Sol desaparece por detrás das montanhas distantes, levando consigo ligeiras nuvens violeta, e eu fico durante um bocado de fôlego entrecortado diante daquela paisagem.
"Como é que aqui cheguei? Por que espécie de caminho?" Não tenho qualquer referência, ignoro onde fica a última aldeia que encontrámos, já não sei de onde viemos. Perdida. E aquele silêncio... Nem uma voz humana, nem um grito de animal.
A noite está a cair e também eu sou uma ilha em suspensão naquele céu estranho. Estou dividida entre duas sensações. "Serei um fantasma numa paisagem fantasma?... Não, eu sou Zana Muhsen, estou de viagem ao estrangeiro, este cenário é real, não tenho medo. Tudo é normal, só que desconhecido."
Abdul Khada e Mohammed passam‑me à frente e são acolhidos por vozes humanas. Quebra‑se o silêncio. Descubro a família.
Eis os pais de Abdul Khada. A avó, Saeeda, muito pequenina, de espinha curvada, cabeça grisalha e magra como uma criança. E o avô cego, Sala Saef. Um homem impressionante, muito alto, extremamente magro, uma cara como que talhada em madeira velha, escavada por dois olhos brancos, mortos, e coroada por cabelos igualmente brancos. Depois, Abdul Khada quer apresentar‑me a sua mulher, Ward, mas já Mohammed me mostra a sua própria família, a mulher, Bakela, e as suas duas filhinhas, Shiffa e Tamanay, com cerca de oito e cinco anos.
Eu sorrio, inclinando a cabeça, esperando compreender o que eles dizem. Abdul Khada não se dá ao trabalho de mo traduzir, mas eles, extremamente acolhedores, parecem contentes por me verem. Sou uma convidada de honra.
As três mulheres e as miudinhas usam roupas tradicionais, idênticas às que vi nas outras aldeias. Vestidos de algodão de todas as cores, por cima de calças tufadas de algodão sem costura, ornamentadas com uma guarnição bordada, e chinelas nos pés. Uns lenços pintalgados cobrem‑lhes as cabeleiras. Disseram‑me que é norma rigorosa para as mulheres não mostrarem o cabelo lá fora, na rua, por exemplo, ou quando vão fazer compras. No caso de encontrarem outros homens, tudo deve estar tapado por um grande lenço preto. Em sua casa, ou à porta, podem deixar descair os lenços, mostrar uma franja de cabelo.
Oiço, por toda a casa, o ligeiro ruído das chinelas que toda a gente usa nos pés. O género de sandálias de plástico fabricadas em Hong Kong que por vezes se vêem em Inglaterra, nos pés dos veraneantes. O avô é o único a usar sapatos tradicionais, sólidas solas de madeira, ornadas por uma correia de couro atada em cima.
Muito distante das outras, a casa de Abdul Khada é também muito maior. Uma grande porta principal, pintada de cinzento, dá acesso ao interior, onde imediatamente se tropeça numa escada de madeira que conduz ao primeiro andar.
Entrar naquela casa é como entrar numa cave. Está tão escuro que preciso de alguns minutos antes de conseguir distinguir as coisas. Por todo o lado correm galinhas que se nos metem por entre as pernas e por detrás da porta de um estábulo ouve‑se o bater de cascos de animais. Tal como se lhes sente o cheiro.
Transpomos alguns degraus de pedra para o andar de cima, onde vive a família. As paredes, os pavimentos, igualmente de pedra, estão cobertos por uma espécie de argamassa que cheira a bosta de vaca e tem a consistência da areia endurecida. Toda a casa cheira a estábulo. Ao cimo da escada, entramos numa espécie de pequeno vestíbulo despido, se exceptuarmos algumas almofadas apinhadas a um canto. Todas as divisões dão para esse local de vida principal. Portas de madeira espessa, muito estreitas e dotadas de volumosas fechaduras, dão acesso aos quartos. Para entrarmos neles temos de nos pôr de lado.
Ward, a esposa de Abdul Khada, leva‑me ao meu quarto. É uma mulher sem beleza, da mesma idade que o marido. De tez olivácea, cabelos castanhos, engelhada e balofa ao mesmo tempo, observa as pessoas com os seus olhinhos matreiros, agitando as mãos gastas, em que tilintam pulseiras de ouro. A profusão de jóias que ostenta só acentua a impressão de que aquela mulher envelheceu antes de tempo. Os brincos, ouro sobre uma pele flácida, os anéis, ouro sobre uns dedos deformados, são aqui o símbolo da mãe de família, o reconhecimento do homem pela escravatura consentida no lar.
Esgueiro‑me para dentro da minúscula divisão, o chão coberto por um linóleo, e julgo compreender ser esse um luxo que só existe naquele quarto. Cinco janelinhas minúsculas e estreitas ‑ duas numa parede, três noutra proporcionam uma pequena brisa e um pouco de luz do exterior. àquela hora, nada, para além do negro das colinas, se distingue em ambas as direcções. Um candeeiro a óleo ilumina o tecto e liberta um cheiro a fumo.
Anacrónico, a um canto, um aparelho de televisão; devem tê‑lo ligado para a minha chegada. A imagem é a preto e branco, não muito nítida, e o som roufenho. Bem posso rodar o botão em todos os sentidos, só existem canais árabes, impossíveis de entender.
‑ Comprei‑o para ti, para não te aborreceres ‑ diz‑me orgulhosamente Abdul Khada.
É simpático da sua parte, mas não vejo o que possa fazer com aquele aparelho. De resto, não tenho a intenção de passar as minhas férias fechada naquele quarto. Passarei todo o dia lá fora, ao ar fresco. Não creio que consiga habituar‑me àquele cheiro persistente a fumeiro, a estábulo, a bosta seca nas paredes.
O único móvel do quarto é um colchão de arame, em que está pousada uma enxerga, extremamente fina, da espessura de um polegar, uma almofada e um cobertor. Junto à parede, uma espécie de plataforma um pouco elevada, feita da mesma mistura de areia e de bosta de vaca. Isso serve de banco, de cadeira, de sítio onde nos sentarmos quando não estamos deitados. Ao chegar, reparei no mesmo do lado de fora da casa. Os dois velhos, o pai cego e a mãe de Abdul Khada estavam aí sentados, em cima de uma pequena enxerga idêntica à minha. Aquele deve ser o seu local de repouso durante o dia, para apanharem sol e verem a paisagem. Neste país, respeitam‑se os anciãos. Foram eles que constituíram a família e toda a gente deles cuida.
Um outro quarto está reservado a Mohammed, à sua mulher e às duas filhas que, dada a exiguidade da divisão, dormem no chão. O mesmo em relação aos avós, e um outro, estreito
e comprido, para Abdul Khada e a sua mulher Ward. Terminamos a visita à casa tomando uma escada que leva ao telhado, onde a família passa a maior parte do seu tempo.
Num recanto da escada, uma minúscula cozinha, com um fogão de lenha e uma pequena estufa a óleo. Abdul Khada explica‑me que o fogão serve para fazer os chapatis, espécie de bolachas de farinha que constituem a base da alimentação iemenita. Junto à cozinha, a casa de banho. Descubro‑a quando peço discretamente a Abdul Khada para me mostrar os lavabos. Ele aponta‑me então um minúsculo armário na parede da cozinha e abre‑o.
Para entrarmos, temos de nos baixar. Lá dentro, a escuridão é total, excepção feita a um círculo de luz pálida proveniente de um buraco no chão daquele sinistro recanto. A rudimentar instalação surpreende‑me, ainda assim. Mas do que estava eu à espera? Aqui, as retretes dão para o vazio, o tecto é tão baixo que só nos podemos movimentar de costas curvadas, sendo‑nos os gestos limitados pelas quatro paredes. Uma bacia cheia de água serve de lavatório, sendo impossível usá‑la de outra forma que não acocorando‑nos por cima do buraco. E tudo o que cai por esse buraco escorre pelas pedras da casa, para se ir derramar nas moitas de cardos. O sol encarrega‑se do resto...
Embaraça‑me usar aquele sítio e com o tempo resignar‑me‑ei a lá ir à noite, quando não está ninguém ali ao lado, na cozinha. Se me é necessário ir lá durante o dia, tomo a precaução de subir ao telhado e de me certificar de que não há ninguém nas imediações. Tem‑se sempre a impressão de se ser visto.
É igualmente complicado arranjarmo‑nos. Há que usar uma outra bacia de água, fria, naturalmente, e não há sabão. Felizmente, trouxe o meu de Inglaterra. Nessa noite, não me perguntei de onde diabo podia vir aquela água. No entanto, não havia torneira, não havia água corrente. Usei‑a sem pensar nisso, como se estivesse em Inglaterra; depois daquele longo périplo pelo deserto e pelas montanhas, precisava de me refrescar. Nos dias seguintes, dei‑me conta do trabalho infernal que a utilização daquela água exigia.
Não tenho fome. Isto é tudo tão estranho. Sinto‑me intimidada, incomodada. Preciso de tempo para retomar a consciência e reflectir na sequência da viagem. Sento‑me no chão de linóleo do "meu" quarto e contento‑me em observar a família sentada em círculo, no vestíbulo, ao redor da comida. É uma cena insólita. Instalou‑se cada um deles numa almofada, iluminados pelo candeeiro a óleo, e comem chapatis desfeitos em leite, contidos numa grande tigela única pousada no chão, ao meio da sala. Pegam naquela mistela com as mãos, fazem com ela uma bolota e comem‑na por cima de uma tigela individual mais pequena.
Os seus gestos são hábeis. Observo‑os com curiosidade. A comida a granel na concha de uma mão, ligeiramente sacudida ao voltar, transforma‑se nessa bolota que o polegar projecta para a boca. E volta‑se ao princípio...
Todos eles falam, riem muito, e eu, sozinha no meu canto, digo para comigo que nunca conseguirei comer daquela forma. Mas estou fascinada por aquele espectáculo, testemunha emudecida incapaz de compreender a mais infima palavra. Eis‑me, assim, no meio de uma família iemenita, em plena refeição da noite. Aquela cena vai‑se‑me gravar na memória como uma fotografia de férias. Estou ansiosa por contá‑la às minhas amigas.
Eles bebem água. Há pouco ofereceram‑me aquilo a que chamam vimto, uma espécie de xarope de cássis concentrado, misturado com água, que aqui se compra especialmente para as festas. E a festa desta noite é o regresso dos homens, pai e filho, bem como a minha chegada. Eu, Zana Muhsen, convidada de honra, trazida até cá pelo senhor da casa, Abdul Khada, cuja ausência foi tão longa que o oprimem com uma infinitude de perguntas; é ele o centro da atenção. Faz por si só as despesas da conversa. Todos o escutam respeitosamente. Ele tirou o fato de viagem e vestiu umas calças de ganga, bem como uma camisa sem colarinho. Observo‑o, o nariz adunco, os olhos muito pretos, a boca dissimulada por um bigode hirsuto. Irmãos de uma mesma tribo, aqui, os homens assemelham‑se extremamente.
No fundo, é uma sorte estar cá. Poucos estrangeiros viajam para o Iémen. Sinto‑me aceite, vou saber tudo acerca deles, da sua vida, dos seus costumes, e poder contar montes de coisas no meu regresso a Inglaterra.
Com o seu olhar fixo, de um azul morto, o avô é impressionante. Bakela prepara‑lhe as bolotas, que lhe enfia na boca como a uma criança. Ela é bonita e, ao lado do ancião, ajuventude do seu rosto, radiosa. A tez pálida resplandece, enquadrada por volutas de cabelos pretos lustrosos, encaracolados. Vigia atentamente cada porção de alimento, franzindo umas espessas sobrancelhas que se unem na fronte. O ancião fala pouco, abre a boca a cada bolota e torna a fechá‑la, como um autómato.
Vão‑se agora deitar e eu posso esgueirar‑me para a casa de banho, para aí me arranjar de improviso ao abrigo das escutas indiscretas. Depois, volto às apalpadelas para o meu quarto e instalo‑me na cama, esgotada. É dura e muito desconfortável, e apesar dos meus esforços, continuo a sentir‑me suja. Além disso, a fome que há pouco me faltava abre‑me agora um buraco no estômago.
"O que faço eu aqui? Nesta cama dura como pedra, neste quarto a cheirar a bosta de vaca... Isto é só uma aventura, não ficarei por muito tempo nestas estranhas paragens."
O sono atingiu‑me de súbito como uma cacetada. Nessa noite nem sequer sonhei.
Fui acordada pelo canto do galo. A alvorada filtra‑se através das janelinhas. O tempo necessário para me aperceber de onde me encontro, e salto da cama para olhar lá para fora. As montanhas circundantes têm um aspecto impressionante, dramático. Recortam‑se no céu como gigantes ameaçadores à luz daquele nascer do dia. Agarrada à pequena abertura que dá para o vazio, tenho a impressão de estar ainda no avião.
Oiço passos por trás da minha porta e barulhos de água; um cheiro a fritos dispersa‑se pela casa. As mulheres recebem‑me inclinando a cabeça, sem pararem de falar entre elas. O pequeno‑almoço é composto por chapatis. Que, na realidade, são uma espécie de panquecas, à base de farinha, de água e de manteiga, que se comem mal saem do forno de lenha. O cheiro é adocicado, agradável, o gosto açucarado, mas tem de se comê‑las rapidamente senão endurecem e transformam‑se em pequenas bolachas de pedra. Há também chá preto e açúcar, que Ward, a mulher de Abdul Khada, deita para um grande recipiente. Oferecem‑me leite, que o chefe da casa mandou comprar na mercearia da aldeia, especialmente para me agradar, já que os Ingleses bebem chá com leite. Agradeço-lhe educadamente.
Embora a atmosfera desta casa seja estranha e os seus habitantes também, reconheço que eles fazem tudo o que podem para me serem agradáveis. Seria despropositado fazer ar de impaciência e perguntar quando poderia finalmente ver o meu irmão Ahmed e a minha irmã Leilah. No entanto, morro de vontade. Nunca os vi, eles não falam a mesma língua que eu, mas representam uma parte da minha família e estou curiosa por conhecê‑los finalmente. Em Birmingham, não me fazia a pergunta. Para ser franca, tinha‑me mesmo esquecido da sua existência, e como a mamã já não fala deles, não constituíam de todo uma preocupação para a Nadia e para mim.
Brinco com as crianças diante de casa enquanto espero que Abdul Khada me diga o que vamos fazer. A brincadeira consiste em aprender palavras em árabe. Pedra, mão, cabeça, casa, etc. As duas miudinhas, Shiffa e Tamanay, são enternecedoras e cheias de vida. Shiffa tem oito anos, a irmã mais nova quatro, e parecem‑se como duas bonecas. Os mesmos cabelos compridos, rebeldes e pretos, pelas costas, ornados por um lencinho pintalgado. O mesmo olhar castanho‑escuro, mas radioso de alegria. Duas crianças encantadoras, com quem gosto de brincar. Mas as horas passam, o dia esvai‑se, depois mais uma noite, sem que Abdul Khada me fale em viagem. Desceu à aldeia, sem me propor que fosse com ele, e só reapareceu à noite.
O avô ficou todo o dia no banco em frente de casa, ao sol, cego e silencioso, ouvindo os risos das crianças. As mulheres passaram a maior parte do seu tempo a carregar água e a cozer chapatis. Eu usei de artimanhas de sioux para ir ao cubículo da latrina sem ninguém dar por isso. à noite, tentei comer como os outros e a minha falta de jeito fez rir Abdul Khada. Ele deu‑se conta da minha dificuldade em me sentar no chão e em me servir das mãos. De tal forma que no dia seguinte se decidiu a levar‑me de comer ao quarto, tive direito a um prato, a um garfo e a comida especialmente cozinhada para mim. Compreendeu igualmente que eu me aborrecia.
‑ Queres vir à aldeia ver as lojas? Esta tarde levo‑te lá.
Boa notícia! Abdul Khada vai comprar‑me cigarros. Não que eu seja uma grande fumadora (em Inglaterra, fumo sobretudo às escondidas, uma ou duas vezes por dia, mais por desafio do que por necessidade), mas aborreço‑me e o meu último maço acabou. Aqui, as mulheres não fumam, não têm autorização, segundo o que consegui perceber, mas Abdul Khada não me considera como elas. Eu sou inglesa. Ele trata‑me como sua igual.
Se pudesse ter adivinhado... Se soubesse que tudo aquilo não passava de uma farsa, que aquela casa, aquela família eram a pior das armadilhas... Mas nada, absolutamente nada, me pode por ora preocupar. Ele mostra‑se realmente simpático e atencioso. Eu sou a convidada, aquela a quem se dedica tempo, que se leva a visitar as redondezas.
Há dois caminhos para chegar à aldeia, lá em baixo. A distância a percorrer é a mesma, a única diferença é que, sozinhas, as mulheres não têm o direito de escolher o seu itinerário. Com um homem, podem tomar o caminho à vista, cruzar‑se com outras pessoas; sozinhas, passam por detrás da casa. Um costume.
A aldeia comporta uma centena de casas, muito próximas umas das outras. A de Abdul Khada é a única afastada. à nossa passagem, muita gente o cumprimenta. Ele é conhecido
e parece estar, de uma forma ou de outra, aparentado com todos os homens que encontramos.
A maior parte dos que param para lhe falar têm a mesma idade que ele e trabalharam outrora em Inglaterra. Conhecem o suficiente da minha língua para me perguntarem cortesmente se
gosto do Iémen, se estou contente por cá estar, coisas de todo banais.
As lojas da aldeia, três ao todo, mais parecem cabanas. Uma grade corrediça metálica serve‑lhes de porta de entrada. Nem montra, nem expositor. As prateleiras, presas de esguelha às paredes, aqui cobertas de cal branca, estão quase vazias. Lá dentro pouco se vê, apesar dos candeeiros a óleo pendurados no tecto. Há um vendedor de tecidos, o merceeiro e uma espécie de bazar, onde se pode comprar Coca‑Cola, cigarros. O aprovisionamento é restrito, as conservas escassas. Acho tudo aquilo bastante sujo e pobre.
As casas são todas idênticas: dois pisos, o estábulo no rés‑do‑chão. O cheiro dos animais, das ovelhas, das vacas, dos carneiros, das galinhas, é omnipresente. O calor torna‑o por vezes insuportável para a inglesa que eu sou. De posse dos meus cigarros, em breve percorro aquelas ruas apinhadas de detritos de toda a espécie. Aqui, as pessoas não têm nenhum sítio para se livrarem dos lixos e despejam‑os muito simplesmente diante de casa ou então queimam‑nos de tempos a tempos.
Não vejo nenhum turista, sou eu a única estrangeira, não há qualquer linha telefónica, nem electricidade, e o primeiro aglomerado importante e algo moderno fica para sul, a duas horas de caminho, próximo da fronteira entre os dois Iémens. É a cidade de Taez, onde fui no primeiro dia.
Tenho muita dificuldade em me situar, aqui. Devemos estar a duzentos quilómetros de Sanaa, a capital, talvez mais, mas a estrada era tão complicada e tortuosa que tive a sensação de fazer mil. Não existe nenhum mapa das estradas, não existem postais da aldeia e, seja como for, não há correio à vista. Se quiser escrever da aldeia, terei de dar o meu correio a Abdul Khada, que o entregará a alguém que por sua vez o entregará ao primeiro aldeão que for a Taez. Estamos realmente no fim do mundo, mas, contas feitas, a aventura por enquanto agrada‑me.
Abdul Khada demora‑se a dar notícias suas aos homens que o interpelam. Perguntam‑lhe como está a família, que eu não conheço, em Inglaterra. Em que tipo de fábrica é que ele trabalhou. Perguntam‑lhe também como vai o seu restaurante em Hays. Quer dizer que é dono de um restaurante. Não sabia. Como não sei onde fica essa cidade de Hays de que eles falam. Ninguém se surpreende com a minha presença ao seu lado. O meu pai é amigo dele, isso é o bastante.
Na realidade, nesta aldeia, Abdul Khada não é rico nem poderoso, é um homem que não me parece pretencioso nem autoritário, um cidadão comum, pertencente à classe média, que vive como os outros aldeões, no mesmo tipo de casa, com a sua família‑tribo por que é financeiramente responsável.
Este primeiro passeio pela aldeia correu bem e no caminho de regresso converso aprazivelmente com o meu guia:
- Onde fica essa tal cidade de Hays?
‑ Perto da estrada principal que leva a Sanaa. O meu filho ajudou‑me a abri‑lo.
‑ O Mohammed?
‑ Não. O meu filho mais novo, o Abdullah. Mostrei‑te ontem a fotografia dele.
‑ Ah, sim.
Na realidade, não prestei muita atenção. Sei vagamente que Abdul Khada tem outro filho, vi circular uma fotografia, mas não tenho dela qualquer recordação precisa.
De regresso a casa, sentamo‑nos no banco cá fora, na companhia dos avós e das duas miudinhas. O Sol começa a pôr‑se; seja como for, está melhor cá fora do que lá dentro. Os cheiros, a promiscuidade, as paredes escuras, sobretudo a falta de luz incitam‑me a sair.
Eles falam entre si. Eu observo, lá em baixo, a aldeia que vi de perto. Já agora, como é que ela se chama? Hockail... é isso. Um pequeno aglomerado de casas na montanha. Chamam‑lhes colinas, por aqui, mas eu nunca vi colinas tão altas em Inglaterra. Encontramo‑nos certamente num grande planalto rochoso muito alto, sobrepujado, por seu turno, de outras colinas. Não sou lá muito forte em geografia e aqui a geografia parece não servir para nada. Há por certo que ter nascido neste sítio para nele nos sabermos orientar. Se tivesse de voltar a partir sozinha, teria demasiado medo de me perder, e perder‑me‑ia com certeza.
Por vezes acho este sítio bonito, selvagem, com todas aquelas rapaces a voltear no céu, aquele mar de colinas no horizonte infinito. Sobretudo à noite, ou de manhã, quando a luz o torna uma paisagem lunar. Um outro planeta. Mas as mais das vezes acho‑o demasiado sujo, demasiado quente, demasiado poeirento, demasiado longe de tudo e do conforto mínimo: uma torneira, um autoclismo, um verdadeiro colchão, uma cadeira, uma mesa para comer.
Esta noite, o vento está um pouco penetrante, refrescante por assim dizer, pois aqui nunca nada é fresco e deve chover de dez em dez anos...
Esta noite sinto‑me menos isolada, conheci pessoas, tenho cigarros, falei inglês.
- Cá está o meu filho, Abdullah...
Toda a família se levanta para receber o recém‑chegado. Eu também. Um garoto. Tem catorze anos e parece ter oito. De aspecto enfezado, doente mesmo, é muito magro e pálido, de estranhas feições crispadas, ar insatisfeito consigo e com o mundo. Não é propriamente bonito, o pobre rapaz, com o seu grande nariz, desmesurado num rosto tão infantil. Ward, sua mãe, precipita‑se para tomar conta do seu saco de viagem e para o beijar. O resto da família cerca‑o, depois Abdul Khada toma‑me pela mão e apresenta‑me o seu filho:
‑ Este é o meu filho Abdullah.
Estendo formalmente a mão, como fiz com os outros ao princípio. A mão dele é flácida, mais pequena do que a minha, sem consistência. Creio que desvia ligeiramente os olhos:
talvez pela minha indumentária ocidental, ou por timidez. Dir‑se‑ia incapaz de levantar um balde de água; Abdul Khada disse‑me, no entanto, que fora ele que o ajudara a instalar e a pintar de novo o seu restaurante.
Tornamos a sentar‑nos no grande banco e retomo a minha conversa com Abdul Khada, sem prestar especial atenção a Abdullah, excepção feita a um olhar de tempos a tempos, para ser bem‑educada. Ele parece mais curioso em conhecer‑me.
Dado começar o Sol a pôr‑se por detrás da montanha e o ar refrescar realmente, entramos e eu vou instalar‑me no meu quarto com Abdul Khada e os outros. Desde o segundo dia que eles ganharam esse hábito de vir conversar comigo aos "meus" aposentos, antes da refeição da noite.
Abdul Khada senta‑se no banco coberto com a colcha, eu fico à sua esquerda, o seu filho Abdulla à direita. Ao cabo de um breve momento, os outros levantam‑se. O avô e a avó, Ward, Mohammed, a sua mulher e as filhas. Deixam‑nos sozinhos aos três. Imagino que vão tratar da refeição. Estou no meu lugar preferido, junto à janela, para receber o ar fresco lá de fora. O rapaz, sentado, de pernas pendentes, não diz nada e fixa os desenhos do linóleo.
O silêncio reina agora na divisão e dou‑me conta de que eles fecharam a porta do quarto ao saírem uns atrás dos outros.
Abdul Khada fala, o tom da voz nada tem de solene e diz como diria qualquer coisa trivial:
- Este é o teu marido.
A breve frase levou tempo a chegar‑me à consciência. Estava a brincar. Fito Abdul Khada, perplexa, não sabendo se me posso permitir rir ou não.
‑ O quê?
‑ O Abdullah é o teu marido - repete ele sem se zangar, mas o tom é um pouco mais firme, e eu esforço‑me por me concentrar.
"Terei eu ouvido bem aquelas palavras, terei compreendido bem o seu sentido? Terá ele dito "O Abdullah é o teu marido", ou "O Abdullah podia ser teu marido"? Talvez tenha dito outra coisa..." Não. Disse realmente "marido" e olha para mim, olha para Abdullah, que por seu lado continua a fitar o linóleo em silêncio. De súbito, o coração começa‑me a bater tão violentamente no peito que entro completamente em pânico.
‑ Mas... ele não pode ser o meu marido ‑ consigo balbuciar com a respiração entrecortada.
Continuo a não conseguir convencer‑me de ter ouvido bem, respondo no vazio, para dizer qualquer coisa, não percebo nada do que se passa. "Para onde foram os outros? Participarão eles nesta brincadeira duvidosa?"
Mohammed apareceu, insinuando a cabeça através da porta. Aproximo‑me dele.
‑ Do que é que ele está a falar, Mohammed?
A resposta é firme, clara:
‑ O Abdullah é o teu marido, Zana. É o que o meu pai acaba de te dizer.
Tem um ar realmente sério. A coisa parece‑lhe evidente.
O que é que se passa aqui? Pergunto‑me o que na realidade foram eles meter na cabeça. Não, é impossível, eles não podem. É ridículo. Pura e simplesmente ridículo. Não consigo sequer analisar aquela frase mentalmente. Tudo aquilo é irreal.
‑ Mas, afinal, como é que ele podia ser meu marido? Eu não tenho marido. Não tenho idade para ter marido, o que é que se passa? O que querem vocês dizer, afinal?
‑ O teu pai combinou tudo.
‑ O meu pai? Combinou o quê?
‑ O casamento, em Inglaterra. Para ti e para a tua irmã Nadia também.
‑ A Nadia, casada? E com quem?
‑ Com o filho do Gowad.
"Mas quem é o Gowad? Já nem sei. Ah, sim, é o outro amigo do papá, aquele que acompanhará a Nadia de férias. De férias! Eu vim de férias, a Nadia virá de férias... O papá... teria o papá combinado aquilo? Como é que se pode combinar em Inglaterra o casamento das duas filhas com garotos daqui?"
‑ Não é verdade. Começa porque isso é impossível.
‑ É verdade. Nós temos as certidões de casamento, elas comprovam que é verdade. Vocês estão ambas casadas, e quanto a ti, Zana, o teu marido é o Abdullah. Como julgas tu que vocês poderiam vir para o Iémen se não estivessem casadas...
Já não o oiço, flutuo. Não paro de dizer para comigo: "Isto não é possível, isto não é possível..." Para aqui estou, sentada neste banco; este garoto ao meu lado continua a olhar para os pés, ou para os desenhos do chão. Não disse nada, aliás ninguém disse nada.
De súbito, ocorre‑me uma coisa. "Como sou ingénua, eles sabiam, todos sabiam, as mulheres, os velhos, os homens, o meu pai, porventura a minha mãe? A minha mãe, não. Impossível. Mas os outros sabiam. E prometeram‑nos o sol, o mar, as palmeiras, para nos trazerem para esta maldita aldeia. Alguma coisa está mal. Tudo isto é impossível! Ilegal! Isto não vai resultar, não pode funcionar assim. Não se casam as pessoas sem lhes dizer. Eu não assinei nada. Não me perguntaram nada. Este género de situação não existe em parte nenhuma. Estou a ter um pesadelo, ou então eles tentam intimidar‑me. Mas eu não hei‑de ceder."
As ideias rodopiam‑me incessantemente na cabeça, enquanto Mohammed e o seu pai conversam em árabe. Em breve o pequeno Abdullah se intromete. Não compreendo o que eles dizem. Um outro homem vem mesmo falar com eles à soleira da porta. Como se eu não estivesse ali, como se nada de horripilante se passasse. Por fim, saem, talvez por eu estar a desfazer‑me em lágrimas. Seja como for, sou excluída mal eles começam a falar em árabe.
"Quero voltar para casa, para a mamã. Não posso ficar aqui nem mais uma hora. Preciso de alguém a quem contar a minha história, que componha tudo isto. Há com certeza alguém na aldeia. Mas como fazer para ir à aldeia em plena noite... Por aquele caminho infernal. O que hei‑de eu fazer? Como resolver esta história de doidos?"
O quarto escurece e eu para ali fico, no escuro, sentada a fitar o vazio.
Sinto‑me petrificada, enregelada, incapaz de fazer um gesto, de pensar o que quer que seja de inteligente. Como se tivesse caído, violentamente, num precipício sem fim e a cabeça não me tivesse acompanhado.
Não me lembro de quanto tempo fiquei assim no escuro. Talvez uma hora. Imaginava que eles tivessem saído sem comer. Eles... os homens, Abdul Khada e os seus dois filhos. Procurava entender como pudera acontecer tudo aquilo. No aeroporto, o meu pai, sorridente, descontraído, aconselhando‑me a respeitar o seu amigo, gabando a minha sorte de ir passar férias ao Iémen no seio daquela família... Ele enganou‑me. A mamã não deve ter suspeitado, senão não me teria deixado partir.
Procuro lembrar‑me do que realmente se passou, pelo menos do que me disseram acerca da minha irmã Leilah e do meu irmão Ahmed. É vago, impreciso. Pretendera o meu pai que tinham partido de férias, como eu, muito pequenos, para visitarem os avós paternos. E depois, ao fim de algumas semanas, declarou que eles seriam educados aqui. E mais nada. A mamã tentou fazê‑los voltar, mas como, e por que o não conseguiu ela? Irá acontecer‑me a mesma coisa?
Abdullah volta para o quarto. Apesar da escuridão, sei que é ele, dada a sua pequena estatura. É pouco maior do que o meu maninho Mo. E agora é noite escura e apercebo‑me de que tenciona dormir aqui, comigo. Abdul Khada está de pé atrás dele. Quase grito:
- Ele não dorme aqui. Quero ficar sozinha.
‑ Ele é o teu marido. Tens de dormir com ele!
Dito isto, numa voz dura, malévola, empurra o garoto lá para dentro e bate com a porta. Oiço o ferrolho fechar‑se do outro lado. Estamos presos.
Esforço‑me por não olhar para Abdullah; quanto a ele, mantém‑se em silêncio. Aquele garoto está quase mudo desde que chegou. Sinto‑o andar pelo quarto. Não sabe onde se enfiar, nem o que fazer. A simples ideia de partilhar a cama com ele repugna‑me. Vou instalar‑me no banco, mesmo por baixo da janela, e enrolo‑me na coberta. Ele instala‑se na cama, oiço‑o respirar, sem lhe distinguir a cara à luz fraca da Lua que passa através da portada. Pergunto‑me o que pensa ele. Pergunto‑me se vai adormecer. A mim, isso é‑me impossível. Está fora de questão dormir.
De olhos esbugalhados, fito o tecto por onde correm lagartixas. Não as tinha visto na primeira noite, demasiado cansada que estava para isso. Há lagartixas por cima da minha cabeça. Oiço também as hienas e os lobos uivarem na montanha. Este país é um horror. "Areia branca e palmeiras ao sol", dizia o meu pai... A raiva invade‑me ao ponto de me gelar os ossos. Não passo de um bloco de gelo e de raiva.
O outro, o garoto, respira regularmente, dorme. Para ele, a situação nada tem de angustiante. Eu ouvirajá dizer que no Iémen se casavam os filhos muito novos. Tomara aquilo por um costume sem consequências, imaginando que se tratava de uma promessa de casamento e não de uma realidade, que não os metiam na mesma cama aos dez, catorze anos. Ele tem catorze anos e está na minha cama. Que fique por lá. Eu nunca hei‑de dormir com ele, nunca. Eles não podem obrigar‑me a isso. É impossível.
As horas passam lentamente. Coladas ao tecto, as lagartixas devem ter adormecido, também elas, enquanto que eu conservo os olhos abertos, sem conseguir baixar as pálpebras. Se adormecesse, deixaria de controlar a situação. Ele poderia saltar‑me para cima. Embora, magro e adoentado como é, depressa me desembaraçasse dele. Mas háo pai. É ele o verdadeiro problema. Aquele homem é mau e eu não me apercebera disso. Representou a farsa durante toda a viagem: sorrisos e salamaleques. Eu passeio‑te, eu compro‑te cigarros, eu ofereço‑te leite, um prato e um garfo para comeres.
Eu sou inglesa, não sou iemenita. Jamais me vergarei aos seus costumes de selvagens. Esta noite conseguiu impressionar‑me, mas amanhã será dia e eu fugirei para a aldeia à procura de ajuda, para avisar a minha mãe, procurar alguém que me leve a Taez, telefonar, escrever, para que me venham buscar, e sobretudo para que a mamã não deixe a Nadia partir. Aquele Gowad, que pretende casá‑la com o filho... Isto é tudo uma loucura. Inimaginável.
Eu amo o Mackie. Mesmo que só estejamos na fase do namorico, estou certa dos meus sentimentos. Amo um inglês da minha idade. Não me vão meter à força na cama de um árabe de catorze anos cuja existência eu ignorava até esta noite.
Julgava ter resistido ao sono, mas não foi o caso. Devo ter adormecido durante algum tempo, pois a cama está vazia. O rapaz saiu sem que eu me desse conta e já veio a alvorada.
Permaneço imóvel, tentando repor as ideias em ordem, descobrir de que forma agir agora. "Não tenho documentos, não tenho passaporte, Abdul Khada ficou com eles, bem como com o bilhete de avião, que não devia incluir o regresso. Como sair daqui? Eu ignoro mesmo onde me encontro exactamente. É claro que viajei com toda a liberdade e de olhos bem abertos, mas é como se nada tivesse visto... Não conseguiria sequer tornar a encontrar o sítio onde o automóvel nos deixou. Não saberia que direcção tomar. Não tenho dinheiro. Há que encontrar o meio de prevenir a mamã, de impedir a Nadia de vir e de ela me vir buscar depois."
Abdul Khada abre a porta com violência.
‑ Tu não dormiste com ele! Porquê? ‑ grita em inglês, com os olhos turvos de cólera e a boca contorcida.
O filho deve ter‑lhe dito que eu dormira no banco.
‑ Nem pensar! Eu não durmo com ele!
Quase gritei também. Violência por violência, não tenho outra resposta. Ele bate de novo com a porta, deixando‑me sozinha, sem comentários, e o pânico torna a invadir‑me. Vale mais ficar aqui enclausurada neste quarto escuro, ou sair e tentar falar com alguém? Sair.
Ward, a mulher de Abdul Khada, está na cozinha. Acaba de ir buscar água. Como falar com ela? Aquela mulher gorda de cara desagradável tem uma expressão má, uns olhinhos duros. Desde a minha chegada que não pára de me olhar para as roupas. A minha saia e a minha T‑shirt não lhe agradam. Deve considerar‑me uma rapariga impura, desavergonhada.
Dirige‑se a mim em árabe. Não poderemos comunicar assim, ela não falando uma palavra de inglês, eu nem uma frase correcta de árabe. Não consigo sequer perguntar‑lhe onde está o marido. De resto, ela desvia‑se, murmurando. A avó diz qualquer coisa e eu desfaço‑me em lágrimas. Sentado no banco, lá fora, o velho cego de nada me pode valer. Também ele não fala a minha língua. Metade da manhã decorre à espera de Abdul Khada. Quando do seu regresso, suponho que da aldeia, precipito‑me para ele, chorando.
‑ Diz‑me, o que me vai acontecer? Isto não é verdade? Posso voltar para casa?
‑ Não. Não podes voltar para casa. Por enquanto não.
- Como por enquanto, o que é que vocês querem fazer?
‑ Tens de te habituar.
‑ Mas a quê? Eu não me quero habituar. O que é que o meu pai fez? Diz‑me, suplico‑te.
‑ O teu pai casou‑te. Eu paguei por isso.
"Paguei? Este homem pagou‑me? Eu? Vendida? É impossível. Não se vendem as pessoas como objectos. O meu pai não pode ter feito isso, ele é meu pai, um pai não vende a sua filha!"
‑ Isso não é verdade.
‑ Paguei, estou‑te a dizer. Cem mil rials...
O número apanhou‑me desprevenida. O que são cem mil rials? Muito? É‑me indiferente, ele está a mentir.
‑ Se isso for verdade, havemos de te reembolsar, eu quero voltar para casa.
‑ Por enquanto não. Há que esperar.
Agarro‑me àquela chispa de esperança. "Por enquanto não." Isso quer dizer que se aguentar poderei voltar para Birmingham. Isso é certo. Mas quando?
‑ Diz‑me, quando?
Abdul Khada vira‑me as costas sem responder. Eu persigo‑o, agarro‑me a ele, ele repele‑me brutalmente. Ninguém nesta casa vem em meu auxílio. Todos eles me repelem, em bloco, me ignoram, me deixam errar ao redor da casa, completamente estupidificada, sem me trazerem o menor consolo. Até mesmo Abdullah me evita. Parece estar tão assustado como eu. Devia saber que trariam alguém de Inglaterra para o desposar, mas o meu estilo e a minha forma de vestir devem tê‑lo chocado. Isto deve ser difícil para ele, eu sou diferente das mulheres que o rodeiam. Da sua mãe, da mulher de Mohammed, de todas as mulheres da aldeia, e ele só as conheceu a elas. Eu sou a estrangeira imprudente que mostra as pernas e a cara. Que fuma, que fala em voz alta como os homens. E tenho mais dois anos que ele. Em suma, ele não passa de uma criança. Isso devia tranquilizar‑me, mas há o Abdul Khada, e toda a gente tem medo dele, sobretudo aquele garoto.
De súbito, ocorre‑me uma ideia. Na véspera, vi comprimidos no quarto de Bakela, a mulher de Mohammed. Disseram‑me que estivera recentemente doente. Ignoro de que espécie de medicamentos se trata, mas vou tomá‑los. Há um frasco inteiro deles. Com que sair deste pesadelo. Adoecer para que me levem para longe daqui, arriscar‑me mesmo a morrer, é‑me indiferente. Insinuo‑me no quarto, o frasco está ali, despejo os comprimidos na mão e engulo‑os de um trago, correndo o risco de asfixiar.
Mas não fui suficientemente rápida. Mohammed já ali está, agarra‑me pela garganta, abana‑me e obriga‑me a vomitar. Debatemo‑nos durante um instante, mas não tenho qualquer hipótese, ele é mais forte do que eu. Regurgito os comprimidos, soluçando, chorando, pressinto que me estou a tornar histérica.
O Mohammed é aqui, talvez, o único algo simpático. Julgo‑o desolado com o que me está a acontecer. Ele sempre foi atencioso comigo, nunca foi agressivo.
‑ Por favor Mohammed, ajuda‑me...
Encolhe os ombros, com indiferença.
‑ Não posso fazer nada por ti. Nenhum homem pode desobedecer ao pai.
‑ Mas tu és adulto, tens trinta anos, és um homem, tens mulher e filhos. Viveste em Inglaterra. Só tu me podes ajudar, Mohammed, suplico‑te...
‑ Eu não posso desobedecer.
‑ Mesmo que não estejas de acordo?
‑ É assim.
‑ Então os homens árabes obedecem sempre ao pai? Mesmo se ele agir mal?
- Ele é meu pai e é assim. Também tu tens de aceitar. O Abdullah tem de aceitar, é essa a nossa lei.
‑ Não é a minha.
‑ É a do teu pai, e ele recebeu dinheiro. Tens de obedecer ao teu pai, e ao meu.
Então não tenho qualquer esperança? O próprio Mohammed está aterrorizado, submetido àquele monstro do Abdul Khada. Odeio aquele homem, odeio‑o a ele tal como odeio o meu pai. Até aqui, não conhecia o ódio. Era uma simples adolescente inglesa. Ia à escola, ia dançar, rir, ouvir música com amigos, tinha a minha mãe para me proteger. Por causa deles, já não tenho nada.
É então essa a verdade, venderam‑me como se vende um burro ou um camelo. O meu preço é de cem mil rials. Ontem, Abdul Khada comprou‑me uma Coca‑Cola, pela qual pagou quatro rials. Sou uma escrava, uma rapariga vendida pelo pai.
Vou deixar de chorar e resistir. Vou resistir‑lhes até que eles se cansem de mim, todos eles. Que só tenham um desejo, o de me mandar para casa. E hei‑de matar o meu pai por aquilo que ele fez. Juro‑o.
Nessa noite recuso‑me a comer, a sentar‑me com eles. No espaço de dois dias, a minha vida subverteu‑se. A solidão é a minha única força. Dela não gozo por muito tempo. Abdul Khada entra no meu quarto.
‑ Esta noite tens de dormir com o Abdullah.
‑ Não, não o farei.
‑ Vais fazê‑lo, ou seremos obrigados a forçar‑te. Atamos‑te à cama...
‑ Eu não quero.
É a vez de Mohammed vir pregar‑me "moral".
‑ Zana, tens de dormir com o meu irmão. Nós vamos obrigar‑te.
Olho para aqueles dois homens, fortes, determinados, na ombreira da porta. Não tenho qualquer saída. Eles fá‑lo‑ão, atar‑me‑ão, como dizem. Não deviam estar à espera de uma resistência deste género numa rapariga. Aqui, as mulheres obedecem aos homens e os homens orgulham‑se do seu poder. Eles não haverão de ceder perante mim. Também Abdullah há‑de obedecer, quando o pai e o irmão mais velho me tiverem subjugado. Posso tê‑lo impressionado na noite anterior, mas dei‑me conta, pela sua atitude durante o dia, de que na realidade lhe repugnava mais do que o impressionava. Uma inglesa, uma impura que se expõe ao olhar dos outros homens.
Isto é uma violação. Uma violação nojenta. Eu sou virgem e a minha única experiência sexual limitou‑se aos beijos do Mackie. Não tenho escolha: aceitar, ou dar comigo atada àquela cama, como uma escrava, e sofrer a humilhação.
Então, baixo a cabeça, incapaz de pronunciar o sim por que eles esperam. Mandam entrar Abdullah e tornam a fechar a porta, sem sequer a aferrolharem, certos de que não tenho qualquer meio de fugir.
Estendo‑me na cama. Os olhos fechados. Não pensar em nada, solidificar‑me, tornar‑me pedra. Ele é um garoto, que, desajeitadamente, tenta fazer de homem. Não sinto nada. A imobilidade protege‑me. Não é a mim que aquela coisa imunda está a acontecer. Não sou eu que sufoco. Eu não estou ali. A Zana que em Birmingham sonhava de amor, que dançava com o Mackie, a Zana que ia de férias, está morta. Morta.
Não sei o que se passou. Recuso‑me a ter disso consciência. Não serei a humilhada nem a dócil, eles poderão fazer o que quiserem, recuso‑lhes o meu sofrimento, a mim mesma mo recuso. Pedra me tornei, pedra permanecerei.
Abdullah obedeceu. Deita‑se ao meu lado. Acabo de ser violada por uma criança. Durante toda a noite os meus olhos de pedra contemplam as lagartixas do tecto, únicas testemunhas daquele acto imundo.
Eles tornaram‑me prisioneira daquele horror, eu manter‑me‑ei mentalmente livre, para sempre, independentemente da sua vontade. Já não importa o tempo. Os lobos e as hienas produzem um concerto lúgubre na noite das montanhas. São eles que gritam em meu lugar.
De manhã, com os olhos a arder de insónia, a cabeça vazia, submergida pela repulsa, sinto‑me suja.
Abdul Khada abre a porta, satisfeito, e o filho aproveita para se escapulir.
- Está tudo bem?
Como se eu tivesse estado doente e ele se preocupasse comigo. Não respondo. O que responder àquela pergunta estúpida, de resto? Vai‑se embora e Ward, a sua mulher, vem ver‑me por seu turno. Parece querer comunicar comigo e faz gestos que eu não compreendo.
Estou suja, suja, preciso de água pelo corpo, pela cara. Vasculho a mala, à procura do meu sabonete inglês, e fecho‑me no cubículo com um balde de água. Temos de nos lavar
curvados, quase de gatas. A tocha mal ilumina as paredes nauseabundas. A água escorre para o buraco e a realidade salta‑me de novo ao espírito. E eu de novo a recuso. Não posso acreditar que aquilo me tenha acontecido. Só tenho uma ideia na cabeça: "Isto não é verdade, isto não é verdade..."
É difícil precisar o que me ia então na mente. Tinha de viver no irreal, aquela aldeia agarrada à montanha, aquela casa pregada à rocha, aquele deserto ao redor, aquela gente, os seus actos, tudo aquilo fazia parte de um mau sonho. Nada daquilo era verdade.
Ao sair do cubículo, Ward fita‑me com os seus olhinhos mesquinhos. Ela foi ao quarto, provavelmente para se certificar de que eu perdera a virgindade, mas nessa altura não lhe presto atenção. Aliás, não estou certa de a ter perdido. Não me lembro sequer de ter sangrado ou sofrido, e isso é‑me igual. Só espero que nada tenha acontecido ‑ sem sangue, não há virgindade violada ‑ e que Abdullah não tenha cumprido o seu dever de machozinho, conforme dele esperavam.
Sentada na minha cama, reencontro a imobilidade que deles me protege. Ali, posso sofrer intimamente a ausência da minha mãe. Sofrer ao pensar na Nadia, que tudo ignora, que em Birmingham se prepara para aquela maldita viagem de pretensas férias e que à chegada vai sofrer a mesma sorte que eu.
Eu queria amar, sonhava com o amor. Eles devastaram tudo. Sou uma escrava, como as personagens do meu livro preferido. Arrancada ao seu país, torturada, privada do essencial:
a liberdade.
Nos romances de amor que em Inglaterra eu devorava, as jovens descobrem a felicidade, a ternura. Fazem‑lhes a corte e o momento do beijo final, a altura em que o jovem toma a sua noiva nos braços, é uma apoteose. Eu alimentei‑me dessas belas histórias, sonhei com elas, esperava viver a mesma coisa, como todas as adolescentes da minha idade. Como a Nadia. Que só tem catorze anos, que ainda não há muito tempo brincava com bonecas. O mais insuportável neste momento é ser impotente, não poder fazer nada por ela. Sinto‑me culpada, como se tambem eu participasse na cilada que a aguarda.
Odeio‑os. Odeio sobretudo o meu pai, não passo de um bloco de ódio.
Ward acabou de inspeccionar o quarto. É a vez das miudinhas, Shiffa e Tamanay, virem visitar‑me. Na sua idade, não fazem qualquer ideia do que se passou e o meu ódio não lhes pode dizer respeito. Elas são bonitas, adoráveis mesmo, gostariam de brincar comigo, como no primeiro dia, mas eu não tenho forças para isso, queria estar só, enquanto que elas passam o tempo a entrar e a sair.
A mamã há‑de tirar‑me daqui. A minha única esperança é a mamã. A mamã vai compreender, saber, adivinhar, não sei. Hei‑de descobrir um meio de a contactar. Hei‑de arranjar alguém para a prevenir. Tenho de me agarrar a essa esperança.
A ela me agarrei durante oito anos. Oito anos durante os quais, dia após dia, repeti para comigo que ia sair daquela aldeia, que não havia qualquer razão para que ficasse para sempre prisioneira daqueles selvagens. Oito anos.
E apenas estava no meu terceiro dia. Não tinha ainda dezasseis anos. Tinha vinte e quatro quando deixei o Iémen e a minha prisão. Mas sobrevivi, com duas ideias fixas: a esperança e o ódio, tão fortes uma como a outra. Elas ajudaram‑me a não morrer.
Durante os dias seguintes, Abdul Khada autoriza‑me a ficar sozinha no meu quarto, traz‑me as refeições, uma faca, um garfo, o que me permite não comer com os outros. Faz mesmo certos esforços: tenho direito a batatas fritas e a frango. Mas não tenho fome. A própria comida me repugna e as moscas ainda mais.
As moscas importunam‑nos durante o dia, à noite são os mosquitos. Não consigo habituar‑me, ignorá‑los. As picadas de mosquito enlouquecem‑me, coço‑me até fazer sangue. Os outros aprenderam a não irritar a pele a seguir a uma picada, pois quanto mais se coça mais comichão ela faz. Eu transformo‑me numa chaga viva. Prisioneira das moscas, dos mosquitos, dos lagartos e das feras que gritam na noite.
Só bebo vimto. A simples visão de um prato de comida dá‑me volta ao estômago. A visão de Abdullah também. Ao raiar da manhã, ignorava se ele iria reincidir. Fê‑lo. Todas as noites o pai mandou o filho entrar para o sacrifício e eu não o repeli, com medo de que se queixasse e de sofrer as consequências. Suporto a ignóbil façanha, como da primeira vez, com a imobilidade da pedra. Ele entra por vezes no quarto sob o olhar do pai, depois, fechada a porta de novo, deixa‑me em paz. Foram‑me necessários vários dias para compreender que já não era virgem.
Abdul Khada declarou‑me pomposamente esta manhã que, quando eu tivesse um filho, podia voltar para Inglaterra. Um filho... Um filho! Conseguirá Abdullah fazer‑me um filho? Ele é doente, pálido, não tem nada de homem, e se eu estivesse sozinha com ele não ousaria sequer tocar‑me.
Ontem à noite repeli‑o violentamente. Uma valente pancada na barriga fê‑lo recuar como o fantoche magro e débil que é. Saiu para se ir queixar ao pai. Abdul Khada abriu a porta, dirigiu‑se a mim e esbofeteou‑me com uma tal violência que a visão se me toldou de vermelho. Tudo na minha cabeça era vermelho. O sangue nos olhos, sangue por todo o lado. Apeteceu‑me matá‑lo.
Aquela bofetada provocou em mim uma mudança de atitude, fez surgir a minha cólera. Agora já não suplico, insulto. Isso alivia‑me por um instante. Abdul Khada é um ladrão, cuspo‑lhe na cara. Ele raptou‑me; há‑de ser punido, um dia!
O teu pai vendeu‑te. Eu paguei mil libras e tenho a tua certidão de casamento! Mostra‑a!
Ele encolhe os ombros. Como poderia ele mostrar‑me esse documento, ele não existe! Ou então é falso. Devem tê‑lo forjado aqui, no Iémen, com a ajuda do meu passaporte, que não tornei a ver.
- Quero escrever à minha mãe.
‑ Se assim o queres.
O meu moral tem altos e baixos. Durante o dia acontece‑me pensar que não levará muito tempo para que a mamã descubra o que se passa e me venha buscar. Noutras alturas, penso na viagem que fizemos. É difícil. Longe da civilização, como poderia ela encontrar‑me? Nos piores momentos, ocorre‑me mesmo pensar que a minha mãe estava ao corrente dos projectos do meu pai, que talvez estivesse de acordo com ele. Se isso fosse verdade, não me restaria ninguém à superfície da Terra. à parte a Nadia.
Só a Nadia contava. Havia que a impedir de partir com Gowad.
Trouxe de Inglaterra um bloco de papel e envelopes. Ponho‑me a escrever.
À minha querida mãe,
Por favor não deixes vir a Nadia. Eles casaram‑me e não sei o que vai acontecer agora.
Tenho muito medo. Preciso de ajuda. Suplico‑te, não deixes vir a Nadia, suplico‑te minha querida mamã. Ajuda‑me. Acima de tudo, não deixes vir a Nadia.
Meia página. Não falo de Abdul Khada, nem dos outros. Para o caso de eles lerem a carta. Fecho o envelope. O único meio de a pôr no correio é dá‑la a Abdul Khada. Não me deixam sair do perímetro da casa, estou proibida de ir à aldeia. Eles são o meu único elo com o mundo exterior. Ele vai a Taez e aí existe uma estação de correios.
‑ É uma carta para a minha mãe, só para lhe dizer que cheguei bem e que está tudo bem.
Curiosamente, ele não tem um ar de suspeição.
‑ Eu deito‑a no correio.
"Fá‑lo‑á?" Nesse dia, tinha uma esperança. Dizia para comigo que ele era obrigado a mandar pelo menos uma carta minha, a não querer que a mamã ficasse preocupada. No dia seguinte, deixei de acreditar nisso. Dizia para comigo que ele pura e simplesmente a rasgara, a queimara. E ao outro dia já esperava por uma resposta.
A minha resposta, recebi‑a nessa manhã. Vieram trazer cá a casa postais que me são destinados. Transitaram por Taez e não trazem morada precisa. Um número de apartado, é tudo. É um conhecido de Abdul Khada, uma espécie de sócio, creio eu, que lhe serve de estafeta para o correio. Assim, a Terra inteira ignora onde me encontro.
Tenho dezasseis anos. Happy Birthday!, diz o postal da mamã, o de Nadia, o do meu maninho Mo, o de Ashia e o de Tina. Belos postais de aniversário, com flores e pássaros. Sei onde os compraram. Vamos sempre à mesma loja, onde se vendem postais coloridos em que está escrito Para a minha irmã, Para a minha filha... O da mamã é ilustrado com ternas flores. Para a minha filha, feliz aniversário.
Não sabem de nada. Já só resta uma semana para a partida da Nadia, de avião, com Gowad. Imagino‑a no nosso quarto, escrevendo o postal a ouvir reggae. A mala já pronta. O nosso quarto, o nosso esconderijo privado. O papel pintado, as camas iguais, os romances, as cassetes. As noites que passávamos a inebriar‑nos com a música de que gostávamos, ela e eu, às escondidas do papá, que condenava a "música de preto"...
E eu aqui estou, sentada num banco de pedra e adobe, diante da montanha, sob o sol tórrido, cercada de moscas, coberta de chagas, ao lado deste velho cego e silencioso. E de Ward, que esta manhã me insultou em árabe. Compreendi‑o pela expressão malévola do seu rosto...
Duas miudinhas iemenitas, que brincam na poeira aos meus pés, não me podem consolar. O cheiro dos postais, desbotados pela viagem, também não. O perfume de Inglaterra não chegou até cá. Estou tão longe, tão só. Ir chorar para aquele quarto escuro, em cima daquela coberta que cheira a carneiro. Arrumar com precisão os pequenos tesouros na minha mala.
Ouvir a música de lá. E chorar. As escondidas. Não chorar diante deles. Amaldiçoá‑los enquanto choro.
Contanto que a minha carta chegue a tempo. Contanto que a mamã não seja cúmplice. O meu pai não escreveu pelo meu aniversário. Será isso um indício? Mas um indício de quê... Ele vendeu‑me, vendeu‑nos às duas, por mil libras cada uma. Será concebível este género de coisas em 1980? Um pai que vende as filhas como gado? Eram então isso as ameaças que ele proferia: "Vou ensinar‑vos a portarem‑se como raparigas árabes bem educadas." "Vocês precisam de autoridade." "Não se mostra as pernas." "A educação em Inglaterra está podre."
Devia detestar‑nos. Detestar que fôssemos inglesas e não árabes. Ou talvez se tratasse de uma mera questão de dinheiro. Ele teve frequentemente dificuldades económicas, dívidas, multas por pagar. Uma vez, a mamã teve mesmo de pagar por ele, para lhe evitar a prisão. Ele tinha vergonha de pedir ajuda aos seus amigos árabes.
Nós já não somos suas filhas. É à mamã que pertencemos, à nacionalidade inglesa.
Volta‑me a coragem. Esperar. Aguentar. Aqui, o tempo é insensível, qualquer dia se assemelha ao anterior. As mulheres vão aos poços buscar água, fazem os chapatis, dão de comer ao gado, à noite acendem as tochas e de manhã voltam a cumprir incansavelmente as mesmas tarefas da véspera.
Passaram‑se oito dias, que me parecem um século. Envelheci um século e hoje só tenho dezasseis anos.
Para descer à aldeia com Abdul Khada tenho agora de tomar o caminho oposto, reservado às mulheres, o que desce ao longo da montanha, por entre as moitas espinhosas. Agora, considera‑me como uma mulher daqui. Para ele, o problema é que todos os olhares se voltam para as minhas roupas, justamente a única coisa que ainda me diferencia das mulheres deles, e à qual eu me apego. Eu sou uma inglesa nesta aldeia e eles pouco podem fazer contra isso. Por ora. É com orgulho que me sujeito aos olhares reprovadores. Abdul Khada apercebe‑se disso, fingindo lá fora que "a inglesa do seu filho" não o incomoda. Finge‑se paciente, aguarda pelo momento, improvável na minha cabeça, em que desabarei em bloco. Faz mesmo concessões para isso, compra‑me fruta na mercearia, para me agradar diante do merceeiro. A fruta não é boa, nem madura, nem sumarenta. Mas aquilo lembra‑me um pouco a Inglaterra. Comer uma maçã de olhos fechados e imaginar‑me noutro sítio.
A seguir, leva‑me de visita a casa do irmão mais novo, Abdul Noor, que mal apercebi
à chegada. Na casa dos quarenta, é parecido com Abdul Khada, é mais magro, mas não tem o mesmo olhar perfurante. É provavelmente menos abastado, já que a sua casa é mais pequena do que a do irmão mais velho. O dono da casa está fora, mas está lá a mulher, Amina, rechonchuda e simpática, na casa dos trinta, e a nora, Haola. Haola tem dezoito anos, já é casada. O que nela imediatamente chama a atenção é o olhar. Uns olhos imensos e pretos. Tem uns cabelos extraordinariamente compridos. Não deve tê‑los cortado desde que nasceu. Amina revela‑se muito simpática comigo, muito cortês. A sua atitude é muito diferente da de Ward. Parece‑me que com ela eu poderia conversar mais livremente, se falasse a sua língua.
Começo a compreender uma coisa importante. As mulheres são submissas, estão habituadas a ficar sozinhas, enquanto os seus maridos vão trabalhar para o estrangeiro, para a Arábia Saudita ou pura e simplesmente para uma cidade próxima. A maior parte da sua existência decorre sem os homens. Quando eles voltam, como agora Abdul Khada, retomam as rédeas e elas submetem‑se à sua autoridade e à sua presença. Mas na realidade passam perfeitamente sem eles.
Amina dirige‑me a palavra. Bem gostaria de a compreender. Parece‑me que deplora a minha sorte, pois põe‑se a chorar subitamente e Abdul Khada pretende impedir‑lho. Faz grandes gestos com as mãos e adivinho de algum modo o que se passa. Não quer que ela chore à minha frente e pede‑lhe que se controle. Haola olha‑me também com comiseração. Nesta casa há pelo menos duas mulheres que me compreendem e parecem estar do meu lado, mas nada podem fazer por mim, excepto chorar.
Amina tem cerca de trinta e cinco anos e já muitos filhos. Um de vinte anos, outro de dezasseis, outro de treze, outro de nove, outro de seis... e uma filha de dezassete. Se as minhas contas estão certas, deve ter tido o primeiro filho aos catorze anos. E se bem continuo a fazê‑las, ser‑lhe‑á necessário muito dinheiro para os casar a todos. Deve constituir para eles um enorme problema, este costume de comprar as esposas.
A visita é breve. Abdul Khada levanta‑se. Vamos voltar para o ninho das águias, e ele não me larga um metro. Fugir... penso nisso, evidentemente, mas fugir para onde? Se estivesse na cidade, em Sanaa, por exemplo, pôr‑me‑ia a correr, tentaria a minha sorte, refugiar‑me‑ia numa embaixada. Subimos pelo carreiro das mulheres. Aqui, ser mulher, é estar‑se condenada para toda a vida. As que connosco se cruzam, veladas, carregando incansavelmente baldes de água ou o seu feixe de lenha seca, incansavelmente desviando os olhos do homem que passa... incansavelmente fazendo filhos... esta vida não pode ser para mim. Jamais lhes servirei de escrava.
Mohammed recebe‑me com simpatia. Comporta‑se como se nada se tivesse passado, como se não tivesse participado no meu rapto, com o pai. Quanto a Abdullah, o garoto que é suposto ser meu marido, mantém‑se silencioso a partir do momento em que eu esteja nas imediações. Ignora‑me, tal como eu o ignoro a ele. No entanto, vai voltar esta noite e, tal como nas noites anteriores, vou fazer os possíveis por retardar o momento de me meter na cama. De manhã, Abdul Khada interroga‑o e se ele responder que eu recusei, zanga‑se e enche‑me de insultos.
Esta noite, recuso. Vou instalar‑me no banco, por baixo da janela, com um ar decidido. Abdullah olha para mim, hesita, depois aproxima‑se e avança uma mão para me puxar para a cama. Sou imediatamente possuída pela cólera, uma cólera terrível que me faz perder o autodomínio. Persigo‑o aos pontapés pelo quarto, dou‑lhe caça de uma parede à outra, como quem caça uma serpente.
- Vai‑te embora... não me toques, proíbo‑te de me tocares!
Não grito, urro em voz baixa como um animal feroz. Bato ao acaso, ele tapa a cara com as mãos e não tenta sequer lutar. Se ao menos compreendesse o que lhe digo! Que é feio, que me enoja, que aquela casa é feia e me enoja. Nojo, nojo, nojo, só tenho isso na boca. E ele escapa‑se, para se ir queixar ao pai, enquanto eu recupero o fôlego a custo.
‑ O que é que se passa? ‑ pergunta‑me Abdul Khada.
‑ Não quero que ele me toque, é isso o que se passa. Quando é que me levas para Inglaterra?
O desafio não serve para nada. A bofetada atinge‑me em cheio, violenta, na têmpora, a ponto de me fazer cair. Nada mais, e Abdullah, de olhar sonso, está de volta. Bem posso
lutar, que não conseguirei escapar àquele contacto repugnante. A lei consiste, nesta casa, em
que aquele rapaz tenha relações sexuais comigo. A lei consiste em que eu tenha de me submeter a elas. Podia tornar‑lhes a vida tão difícil quanto possível que acabaria por não escapar a tal lei. à noite, todas as noites serão um pesadelo.
Abdul Khada está perfeitamente decidido a levar‑me a ceder e não é o género de homem a quem se possa desobedecer por muito tempo. Fora de Inglaterra, é radicalmente diferente.
Não consigo estabelecer a relação com o Abdul Khada que conheci em casa. Em Birmingham
era, como todos os amigos do meu pai, falador, afável, inofensivo. Normal. Aqui, no Iémen,
é uma espécie de chefe de matilha, um tirano que em sua casa exige o poder absoluto e a quem
ninguém resiste. Os seus próprios pais, os dois pobres velhos, perderam todo o poder. Sobretudo
o avô. Está a cargo do filho e não tem uma palavra a dizer. Nesta sociedade, o chefe de família
é o senhor, é livre de fazer o que lhe apetece.
Além disso, dei‑me conta de que Abdul Khada era violento, mesmo com os outros homens da aldeia. Esta tarde, discutia em árabe com alguém que não parecia da sua opinião, ignoro sobre que assunto. Começou a falar‑lhe agressivamente e o outro não sustentou o desafio.
Submissão. Submeter‑me ao meu marido fantoche. Noite de angústia, noite sem sono. "Quanto tempo vou suportar isto, acossada pela violência dos homens, pelo uivo dos lobos, entre estas paredes imundas, no meio das moscas, dos mosquitos, no meio de um cheiro a estábulo?".
‑ Quando é que me levas para Inglaterra?
Ataco logo de manhã. Não há‑de nascer um dia sem que eu faça a pergunta.
‑ Quando estiveres grávida, podes voltar para Inglaterra, para teres o filho junto da tua mãe.
Mente. Espera ver‑me rapidamente grávida porque imagina que um filho me obrigará a aceitar a sua lei. Que um filho me impedirá de querer deixar o Iémen. Segundo ele, quanto mais depressa eu ceder mais depressa voltarei para Birmingham. Começo a perceber o sentido daquela batalha. Se os levar a acreditar que estou de acordo, talvez consiga, afinal, confrontá‑los com o facto consumado. Estou grávida, vou dar à luz, mandem‑me para Inglaterra. Seja como for, não tenho grandes soluções e o estratagema pode funcionar. Podia mesmo levá‑los a crer que estou grávida, não sendo esse o caso, e pedir para partir.
Abdul Khada estende‑me um copo de chá, de olhos baixos. A volumosa Ward faz saltar bolachas ao lume de carvão de madeira, não compreende a nossa conversa em inglês, mas de tempos a tempos recebo o choque dos seus olhinhos mesquinhos. Imagino o que pensará de mim, o ódio que me tem. Não só sou impura como lhe recuso o filho, que ela adora. Parece que por pouco não morreu, aquele tal Abdullah. Que é doente desde que nasceu.
‑ Juras que se eu ficar grávida, me levas de novo para Inglaterra, juras?
- Não é caso para jurar. Tu estás aqui para fazer um filho ao meu filho, és a mulher dele.
‑ Não, não sou a mulher dele. Isso não está escrito em lado nenhum!
‑ Está sim, eu tenho a certidão.
‑ Mostra‑ma, quero vê‑la.
‑ Não é preciso vê‑la. Eu paguei, tenho a certidão.
- Estás a mentir, eu sei que estás a mentir. Não existe documento nenhum, eu sou inglesa, não me podem casar sem o meu consentimento. Em Inglaterra, estarias preso por isto!
Sou agressiva. Não há nada a fazer. Uns segundos antes prometera a mim mesma trapacear, fingir ceder, mas a partir do momento em que falo com aquele homem, o ódio ressurge. Não consigo fingir.
O pior é que ele troça da minha agressividade, ela passa‑lhe por cima sem o atingir. Tem todos os trunfos na mão. Sabe que estou impotente para fugir, para recusar o seu filho. A noção de violação nem sequer lhe aflora. É‑lhe indiferente o facto de eu não gostar do filho. Está‑se completamente nas tintas para a minha pretensão de reivindicar a nacionalidade inglesa. Aqui, ela não me serve para nada. A resposta é simples: ‑ O teu pai é iemenita, eu paguei ao teu pai, é essa a lei. Tu és iemenita.
Assalta‑me um desejo de gritar na cara daquela montanha iemenita que eu não lhe pertenço! Estou a dar em doida.
Dez dias, e não há notícias da mamã, ignoro se ele pôs a minha carta no correio e se a Nadia já está a caminho.
Estendida na minha cama, releio o meu livro preferido: Raízes. A longa e pavorosa história da escravatura dos negros, da sua luta pela liberdade. Transplantadas, arrancadas ao seu país, às suas raízes, como eu, quantas vezes as personagens deste romance verídico me fizeram chorar. Identifico‑me com aquele escravo, Kunta Kinte, com aquele homem obstinado que quis transmitir aos seus filhos a língua e as tradições da sua África natal. As páginas estão já gastas. Conheço tão bem o texto que há passagens que quase podia repetir de cor. Troço da televisão árabe, de que ele tanto se orgulha. Abdul Khada quisera impressionar‑me ao pô‑la no meu quarto. A única coisa que, aqui, me poderia impressionar seria uma casa de banho limpa com água corrente, lavabos decentes e electricidade, para ver bem à noite, e mesmo de dia. Dentro destas casas está‑se sempre às escuras. Eles vivem na Idade Média ao mesmo tempo que bebem Coca‑Cola fabricada na Arábia Saudita, vêem uma televisão a pilhas fabricada em Hong Kong e se acham modernos por tão pouco.
‑ Temos uma visita, Zana, tens de ir cumprimentar o meu amigo.
É um homem. Dirijo‑me ao quarto de Bakela, ao lado do meu, para o cumprimentar educadamente. Ele desvia o olhar e Abdul Khada leva‑o para o seu quarto. Os homens no meio dos homens. As mulheres no meio das mulheres. É um desconhecido, a sua visita não me interessa.
Mas passado algum tempo, tendo o homem partido, Abdul Khada entra de rompante no meu quarto, trazendo debaixo do braço um embrulho de roupas, que atira para cima da cama.
‑ Veste‑te!
‑ Vestir‑me? Mas porquê, eu estou vestida!
‑ Os outros homens não podem ver‑te assim vestida, é indecoroso.
Começa a gritar:
‑ Quero que vistas isto!
Era então isso o olhar do homem que me analisava. As roupas inglesas que continuo a usar e os meus cabelos descobertos.
Recuso‑me.
Deito um olhar às roupas espalhadas pela cama. Horríveis, o tecido é cor de laranja, coberto de palhetas; reconheço‑as, são de Ward. Atiro‑as para o chão.
‑ Não vou de certeza usar isso.
Abdul Khada inclina‑se para diante, explod e põe‑se a bater‑me em cheio na cara. Grito, ele continua a bater, dói‑me a cabeça, os ouvidos zumbem‑me, mas estou tão colérica como ele. Levanta de novo a mão para me bater, eu inclino‑me por meu turno e mordo‑o às cegas.
Tenho o seu polegar entre os dentes, aperto, mordo com tanta força quanto os meus maxilares conseguem, sem largar a presa, como um cão. Mordo, mordo, os meus dentes estão em cima da unha, a boca sabe‑me a sangue. Ele grita de dor e o seu grito faz com que Mohammed apareça no quarto.
‑ O que é que se passa?
Tenta separar‑nos. Eu largo a presa. Ia sufocando. Mohammed leva o pai, que segura a mão ensanguentada, e eu fico sozinha com Bakela, toda a tremer de medo e de cólera, respirando a curtos haustos. Furibunda, estou verdadeiramente furibunda. Ward chega por seu turno e apanha as roupas espalhadas pelo chão. As duas mulheres põem‑se a falar todas ao mesmo tempo, não percebo nada, os seus gestos querem convencer‑me a pegar naquelas roupas pavorosas. Estendem‑mas, insistindo, apontam‑me o quarto de Abdul Khada, simulando a cólera por gestos. Tradução: se eu não aceitar vestir‑me como elas, ele fica louco de cólera e bate‑me. Parecem ambas horrorizadas com o que fiz, horrorizadas com o que se há‑de passar se eu não obedecer. Nunca viram aquilo. Eu sou uma tempestade naquela casa, meto‑lhes medo.
De braços estendidos, suplicam‑me, encorajam‑me. Sabem que eu me arrisco muito ao obstinar‑me. Deve ter‑se passado qualquer coisa entre Abdul Khada e a visita. O homem envergonhou‑o por aceitar em sua casa uma mulher que eles quase assimilam a uma prostituta, já que mostra as pernas e os cabelos.
A cólera que me sufocava diminui lentamente. Dou‑me conta do perigo. Aceito experimentar aqueles trapos, enfiando‑os por cima da minha própria roupa. E fico para ali, em pé, completamente estúpida, hirta e pouco à vontade.
Bakela aperta‑me contra ela, para me reconfortar. Vejo‑lhe lágrimas de dó nos olhos. Ward junta as mãos. Por uma vez, uma vez sem exemplo, o seu olhar mesquinho suavizou‑se. Talvez elas compreendam um pouco a minha confusão. Mas não posso ceder. Não posso usar aquele horrível vestido laranja com palhetas, grande demais, que tem o cheiro daqui, que me cola à pele. Não posso. Estou desolada, abano a cabeça para lhes dar a entender. Não posso, por enquanto não.
O que elas não compreendem é a minha luta, a minha resistência. O facto de a humildade e a obediência não fazerem parte do meu carácter. Para elas é uma questão de costumes, de hábito, de educação. Nunca conheceram outra coisa. Para mim, é escravatura. Eu não porei aquela roupa de escrava.
Os dias seguintes surgem‑me como uma sucessão de insultos e de bofetadas entre Abdul Khada e eu. Uma guerra de trincheira, dois inimigos frente a frente. De mim, ele aprendeu pelo menos uma coisa. Mordo. E evita deixar‑se apanhar de imprevisto. Tem a marca dos meus dentes na mão. Humilhei‑o, a ele, o homem, o senhor. Bate‑me, mas não sabe realmente como me dominar, o que fazer desta fêmea que resiste. Privo‑o da sua autoridade. É temido na aldeia, é temido em casa. De resto, não gostam dele, isso é visível.
Ward e Bakela tentam, no meio daquela tormenta, fazer com que eu participe nas tarefas diárias da casa. Ao princípio não me pediam nada, deixavam‑me ler os meus romances no
meu quarto, ouvir a minha música, traziam‑me a comida. Agora querem convencer‑me a interessar‑me pelo que elas fazem. Por ordem, ou muito simplesmente por me verem andar
às voltas como um animal enjaulado? Tenho tendência a pensar que têm pena de mim
e me querem distrair, ajudar a habituar‑me a esta vida.
Uma das suas tarefas essenciais consiste em porem os chapatis a cozer em cima das placas incandescentes do fogão a lenha. Ward mostra‑me como se faz. As chamas lambem‑lhes as mãos; ao debruçar‑me por cima do fogão, o calor intenso salta‑me à cara e eu fujo com medo de ser queimada viva. Como conseguem elas aguentar? Têm as mãos calejadas, a pele como corno queimada. Aquilo é uma tortura permanente que me sinto incapaz de suportar. Meter as minhas mãos nas chamas, a palma na placa em brasa, com as faces avermelhadas pelo ardor do fogo. Aquilo é um inferno, dia após dia.
Há duas espécies de chapatis. Uns são fritos, os outros cozidos ao forno. Para os fritos, é preciso comprar a farinha na aldeia. As mulheres fazem uma reserva para vários meses, que é armazenada na cave da casa, e para isso têm de transportar à cabeça enormes sacos que parecem sempre prestes a rebentar. Em seguida, a farinha tem de ser amassada e estendida em crepes. Põe‑se um pouco de banha na frigideira e espalha‑se a massa sobre a gordura quente, até dourar dos dois lados. Mas na maior parte do tempo as mulheres têm de cozer os chapatis à mão, e no lume; debruçadas sobre o fogão, estendem habilmente a massa e voltam‑na desafiando as chamas e as queimaduras. A receita desses chapatis compreende também uma outra tarefa. A apanha do milho, cujos grãos é depois necessário esmagar com uma grande pedra, um trabalho arrasador.
Uma vez cobertas as placas do forno com aquela espécie de crepes, acrescenta‑se um pouco de lenha para reavivar as chamas e vigia‑se a massa até empolar. Ao fim de cerca de cinco minutos, as mulheres voltam os crepes com as mãos nuas. Há que saber ser rápido ao voltá‑los, ou ao tirá‑los daquela placa. Suficientemente depressa para não queimar os dedos, mas também não depressa demais, sob pena de os ver cair nas chamas. Em seguida, ainda quentes, os crepes são colocados num prato.
Comecei a trabalhar com elas, para lhes agradar, e as minhas mãos imediatamente ficaram cobertas de dolorosas bolhas. Mas Ward impediu‑me de desistir. Há que endurecer as mãos, até ao dia em que o fogo já não faz bolhas e em que as mãos das mulheres se assemelhem a velhas peles de serpente ressequidas e rugosas. Constituindo os chapatis a base da alimentação, o suplício é quotidiano. E como com aquilo que me resta dos dedos, conforme os outros, mergulhando o crepe em leite e manteiga. Acabou‑se o tratamento especial, a colher e o garfo, e a faca. Acabou‑se a comida quase inglesa, frango cozido e fruta. Doravante, tenho de comer como os outros. Se não aceitar, só me resta morrer de fome. É simples.
Comecei por me recusar a queimar as mãos e a comer com os dedos. Depois aceitei. Se me queria aguentar e descobrir um meio de fugir, tinha de me alimentar, de aprender umas quantas palavras em árabe, de compreender o que se tramava à minha volta. O que não me impedia de enfrentar Abdul Khada todas as manhãs.
‑ Leva‑me para Inglaterra!
Pelo menos, aquele permanente desafio dava‑me alento para o dia e dava‑lhe a entender que, com as mãos queimadas ou não, desanimada ou não, eu continuava a ser eu. Zana, inglesa.
Refugiada no meu quarto, rumino entre aquelas quatro paredes sinistras, com as pernas doridas, mordidas por centenas de mosquitos, as mãos queimadas pelas minhas experiências culinárias. Asfixio.
O meu inimigo, Abdul Khada, foi lá abaixo fazer compras. Suponho que enquanto me recusar a vestir‑me como ele quer nunca mais terei direito ao passeio até à aldeia. Através da janela, observo as mulheres encarregadas do serviço da água. Transportam à cabeça uma espécie de pesado bidão metálico. O caminho por onde seguem surge‑me de súbito como uma saída de recurso. Embrenha‑se em direcção ao bosque; ignoro aonde leva, pois ainda nunca fui buscar água com elas. Mas a minha decisão é imediata, tomada num segundo. Desta vez decido‑me, vou fugir.
Só tenho de correr, correr sem parar, até estar fora destas montanhas, fora do Jémen. Não tenho qualquer ideia do percurso, ignoro como hei‑de fazer para escapar aos homens da aldeia, que sabem caçar, perseguir os animais selvagens, e que percorrem a montanha armados com os seus punhais e as suas espingardas. Não sei como hei‑de sobreviver a este calor infernal, que de dia me entontece, comer, beber, ou dormir ao abrigo dos insectos, das serpentes, dos lobos e das hienas. Só sei uma coisa: tenho de fugir desta casa, de fugir deste esclavagista e da sua familia. O que quer que seja, será melhor do que esta prisão. Conheci o pior, hei‑de enfrentar as montanhas e o resto.
Não há tempo para pensar, tenho de partir antes de Abdul Khada voltar. Transponho em corrida as escadas que dão para a porta das traseiras e deparo com o avô. O ancião cego ouviu passos, não me pode reconhecer, mas está atravessado no meu caminho; empurro‑o sem cerimónias. Corro debaixo do sol, corro tão depressa quanto posso, até ao sopé da colina. Chegada ao vale, as pedras resvalam debaixo das sandálias, escorrego, perco o equilíbrio, reergo‑me e continuo a correr. As minhas pernas começam a vergar de cansaço, os meus pulmões estão prestes a rebentar, uma dor de lado dobra‑me em duas, mas continuo a correr, sem saber para onde vou. As batidas do meu coração ressoam‑me na cabeça, oiço a minha própria respiração debaixo do crânio, um ruído de forja, e revejo num clarão a fuga do escravo, nas Raízes. A sua captura, o castigo, o chicote. As minhas pernas não hão‑de ceder, as minhas pernas vão levar‑me para longe daqui. Corro tão depressa que já não vejo bem, já não sinto dor, ultrapassei o estádio do esforço, se fosse preciso morria a correr.
Oiço o ruído duma corrida atrás de mim, um olhar e reconheço Mohammed e a sua mãe, Ward. O velho deve tê‑los avisado. Acelero, mas a cada olhar para trás vejo‑os mais perto, gritando imprecações em árabe, gritando o meu nome que ressoa na montanha, em eco: "Zana, Zaanaaa..."
Estou num meio de um pesadelo, o corpo dói‑me, os músculos todos tensos pelo esforço sobre‑humano desta corrida desvairada. Eles correm mais depressa do que eu, vão apanhar‑me... vou acordar na minha cama em Birmingham e o pesadelo terá acabado.
Mohammed apanha‑me no vale, lança os dois braços à minha volta como um laço, e eu caio em cima das pedras. Aquilo estava perdido à partida. Não havia à minha frente nenhum caminho a seguir, nenhuma direcção lógica, o menor sítio onde me esconder. Mohammed grita‑me na nuca, que mantém apertada:
‑ Tu és doida! Para onde é que queres ir? És doida para fugir assim! Volta para casa, o meu pai vai voltar!
Sento‑me com dificuldade, com os pulmões bloqueados, incapaz de pronunciar uma palavra. Os meus pés estão em sangue. Todo o meu sangue parece querer esvair‑se‑me das veias. Vou morrer asfixiada, de raiva, de desespero e daquela corrida sem nexo.
‑ Se o meu pai descobre que quiseste fugir, Zana... fica fulo... Vem...
Não podia fazer mais nada senão voltar com eles. A volumosa Ward, esbaforida pela perseguição, sobe o caminho resmungando atrás de mim. Mohammed vai à frente. Eu regresso à minha prisão enquadrada por dois carcereiros. Irão chicotear‑me? Abdul Khada está de volta e imediatamente compreende o que eu fiz. Uma vaga de pavor invade‑me perante o esgar de cólera que ele exibe.
Bate, bate, é‑me indiferente. As bofetadas não matam.
‑ Porquê? Porque é que te queres escapulir? Não podes ir para lado nenhum!
Não tenho qualquer explicação para lhe dar. Nem a mim mesma, de resto. Queria fugir,
é tudo. Contra toda a lógica. Sei perfeitamente que centenas de quilómetros me separam do
primeiro telefone, que não tenho dinheiro, que não tenho documentos, que as mulheres nunca
circulam sozinhas neste país e que, na primeira barragem, me teriam trazido de volta para cá. A menos que me encontrasse com os lobos, ou que fosse alvejada. Ou que me levassem para outra aldeia para me fecharem dentro de outra casa, para ser violada por outros homens. Aquilo foi uma loucura, um momento de histeria. Se ninguém me tivesse perseguido, continuaria a correr ainda e sempre, estaria morta de correr. Tenho febre. Uma febre de liberdade.
‑ Responde! Porque é que queres fugir?
‑ Leva‑me para Inglaterra!
Não espero sequer pela resposta, volto para o meu quarto, para me sentar no banco por debaixo da janela. Fico para ali sem fazer nada, sem dizer nada, coçando mecanicamente as pernas, a apanhar as moscas, a olhar para as paredes e para o calendário trazido de Inglaterra.
Ao princípio, contava os dias, as semanas, contornei a data de todos os aniversários. A mamã a 22 de Novembro, eu a 7 de Julho... como ilhotas de Inglaterra neste deserto árabe. Inglaterra, só penso nisso. Uma obsessão de que já só me resta a palavra: Inglaterra. Uma única palavra que reúne todas as recordações, todos os rostos. A mamã igual a Inglaterra, o Mackie igual a Inglaterra. As minhas irmãs, o meu irmão, as bailarinas que eu usava para ir dançar, o baloiço no parque para onde ia sonhar enquanto lia fotonovelas... Inglaterra, num sinal vermelho, e atravessar a correr, para não chegar atrasada à piscina... Inglaterra.
Há que continuar a contar os dias, mesmo que já não saiba de que dia se trata, segunda, domingo ou sexta, que importa... "Quando é que a Nadia deve chegar? Quando é que eu fiz dezasseis anos?" No calendário, um pequeno círculo a lápis diz que foi num 7 de Julho... A minha cabeça é uma pedra, já nada nela se grava. Não serve para nada dar murros na parede. Nada serve para nada. Eu já nada sou.
Abdul Khada regressa. "Irá bater‑me?"
- A tua irmã chega dentro de três dias; antes disso, levo‑te a Marais, para conheceres o teu irmão Ahmed e a tua irmã Leilah.
"Porque é que ele faz isto agora? Talvez lá eu possa incitar alguém a ajudar‑me."
‑ Prometi ao teu pai que irias vê‑los. Podes lá ficar o tempo que quiseres.
Desconfio. Este homem é manhoso. Ele tem um plano, mas qual? Fechar‑me algures, porventura num sítio pior do que este? Ou então encarregar o meu irmão e a minha irmã de me convencerem. Pouco importa, se houver a menor hipótese de me evadir, hei‑de aproveitá‑la. Seja como for, é tarde demais para impedir a Nadia de partir. "Ela chega dentro de três dias", o que significa que a minha carta não chegou à mamã, ou que toda a gente nos abandonou.
Talvez Abdul Khada tenha em mente separar‑me da Nadia para consumar tranquilamente a sua perversidade e deitá‑la na cama do filho de Gowad, como fez comigo.
Todas as hipóteses se me atropelam na cabeça enquanto faço a minha mala. Mas o que quer que se esteja a passar, não recusarei deixar esta casa. Pelo contrário. Tentar tudo, tudo experimentar.
Prefiro ir ter com Mohammed para me informar sobre aquela viagem. Ele nunca foi violento comigo. Há pouco, tentou mesmo evitar‑me a cólera do pai.
‑ Onde é que fica Marais?
‑ A sete horas de caminho.
Mais não saberei. Neste país, tudo permanece estranho ao estrangeiro.
No dia seguinte de manhã, partimos muito cedo, antes do calor maior. Um táxi land Rover espera‑nos, a Abdul Khada e a mim, na estrada principal abaixo da casa. Levamos alguma fruta para a viagem. As cadeias de montanhas sucedem‑se umas às outras, a estrada é pedregosa, má, depois começa a serpentear perigosamente. Ao olhar pela porta, vislumbro uma ravina abrupta. Em certas curvas particularmente apertadas, as rodas do automóvel ficam a alguns centímetros da borda. O Land Rover derrapa, a frente bate no rebordo da falésia por cima de nós; lá em baixo, é o vazio. Começo a entrar em pânico e grito ao motorista para parar, para me deixar descer, mas Abdul Khada interpõe‑se:
‑ Deixa de ter medo... Ele está habituado.
De resto, o motorista prossegue sem me ouvir, enquanto que a estrada vai de mal a pior, que nós raspamos cada vez mais na parede vertical e que as rodas se aproximam atrozmente do vazio. Sinto‑me confinada, sobrevivente num espaço que encolhe, encolhe. Parece‑me que vou saltar borda fora a cada curva. Agarro‑me ao assento, fecho os olhos sobre a vertigem da morte iminente, segundo após segundo. E a estrada ata e desata as suas curvas, hora após hora. Por fim, o motorista alcança uma pequena zona de estacionamento e pára. Eu salto de imediato do automóvel para apanhar um pouco de ar e esticar as pernas que se recusam a deixar de tremer. A ravina continua a ser igualmente apavorante.
‑ Deixa‑me fazer o resto do caminho a pé, por favor.
- É longe demais. Sobe.
Eu não queria fugir, queria simplesmente não voltar a viver aquele medo atroz. Chegámos ao que parece ser uma fronteira. Marais fica no Iémen do Sul e alguns homens armados fiscalizam o veículo. Não se interessam de todo por mim. Falam com o motorista e com Abdul Khada, por fim fazem algumas perguntas enquanto me fitam.
‑ O que querem eles?
‑ Saber para onde vamos, só isso. Disse‑lhes que íamos ver a família a Marais.
Parece‑me que, no que se me refere, ele não mostra qualquer documento de identidade. No entanto, ao partir, eu tinha um passaporte individual. O que terá feito dele?
- Não tens de mostrar passaporte para mim?
‑ Uma mulher que viaje com o sogro, com o pai, com o irmão ou com o marido não precisa de documentos.
Eu, aqui, não sou nada. Ele não perde a ocasião de mo fazer notar. A supor que me dirigisse àqueles pretensos alfandegários, que mastigam qat, cospem e se não interessam mais por mim do que por uma idiota, a supor que lhes dissesse em inglês: Salvem‑me, estou prisioneira deste homem, ele casou‑me à força com o filho ‑, provavelmente eles rir‑se‑iam na minha cara. Mesmo que acrescentasse que, para isso, o meu pai me vendera em Inglaterra por mil libras. Mesmo que lhes dissesse que fui violada. Não devem sequer conhecer o sentido desse termo. Em contrapartida, as mangas curtas da minha blusa inglesa são para eles um insulto! Mostrar os braços, que ignomínia!
Quando, finalmente, chegamos a Marais, uma aldeia como as outras, apenas algo maior, e depois de termos sofrido uma série de tempestades tão inesperadas como aterradoras,
apossa-se‑me da garganta uma vontade de irromper em soluços. Tenho tanto calor, tive tanto medo, tudo aquilo é de tal modo assustador. Nada até aqui, na minha vida, me preparou para viver isto. Este horror neste país assustador. Saio do carro a vacilar, alguns aldeões agrupam‑se à nossa volta, falando em árabe, apontando‑me com o dedo. Riem‑se e empurram‑se. Peço a Abdul Khada para me traduzir o que eles dizem, mas é impossível, tão depressa falam e todos ao mesmo tempo.
Vislumbro por entre a multidão um ancião que se dirige para nós, coxeando, apoiado na sua bengala. É um homem franzino, curvado, de cara enrugada, cabelos brancos como a neve. Usa óculos.
‑ Este é o teu avô ‑ diz‑me Abdul Khada.
E eu irrompo no choro. Tudo se me confunde na cabeça. A emoção, o medo, e a surpresa. Aquele ancião de feições desoladas é o retrato do meu pai. A cara, a figura e os gestos são a tal ponto parecidos que o choque me paralisa de imediato. A mesma forma de arredondar os ombros, o mesmo gesto das mãos dadas atrás das costas, o mesmo andar, e de repente, à minha frente, a mesma fria imobilidade.
Queria falar com ele, pedir‑lhe ajuda, mas como? Ele não compreenderia sequer a mais simples palavra de inglês. Por isso, contento‑me com banalidades amáveis, que Abdul Khada traduz.
‑ Olha, vem ai o teu irmão!
Com efeito, alguém corre e abre caminho por entre a turba de aldeões. Um jovem vestido à maneira árabe. Usa a manta tradicional, uma camisa por cima, mas eu reconheço‑o. Tem a cara da família. É um Muhsen, é o meu irmão Ahmed, que eu nunca vira antes. Ele chora, antes mesmo de chegar ao pequeno grupo que formamos à volta do automóvel. Depois detém‑se à minha frente. Sorri por entre as lágrimas. Não sei o que fazer. Beijá‑lo? Aqui não se beija um homem. Mas é meu irmão... Seguramos durante alguns segundos nas mãos um do outro, encarando‑nos. Eu nasci depois dele, ele deixou Birmingham com três anos de idade. Já não se lembra da sua língua materna. Abdul Khada traduz cumprimentos amáveis. Uns "como estás tu, como foi a viagem... Onde está a nossa irmã Leilah..."
Parece que podemos vê‑la imediatamente. Temos de tornar a entrar no carro, de transpor um vale, novos caminhos difíceis, até a uma outra aldeia, cujo nome não compreendo, onde vive a minha irmã. Cruzamos campos de milho. A paisagem é repousante, agradável. Aqui, a estrada é plana e a última tempestade que atravessámos na montanha inundou tudo. A luz do fim de tarde é suave. Noutra altura, teria gozado plenamente aquela paisagem. Gosto da liberdade dos campos, da liberdade das praias. Gosto de dormir ao relento e de cozinhar entre duas pedras. Gosto de respirar um ar diferente, selvagem. Quando íamos com a escola para a colónia, em Blackpool, à beira‑mar,. quando o meu tio nos levava a acampar no País de Gales, eu brincava aos aventureiros, de cara ao vento, com a liberdade na mente. Eram férias inglesas. Foi essa a minha infância, a minha vida, a minha normalidade britânica. Mas bem pode a paisagem ser hoje refrescante... não passa de um cenário da minha vida de refém.
Paramos diante de uma velha casa de pedra, de andares, com janelas encimadas por arcos brancos. Algumas pessoas saem para nos receber e nos verem de perto. Sorriem‑nos e Abdul Khada imediatamente me diz:
‑ A tua irmã Leilah não está cá. Foi com o marido a qualquer sítio, não sabia que nós vínhamos.
Eis‑me de novo à beira das lágrimas, de tal forma estou desiludida. Nesta trágica aventura, era importante conhecer membros da família. Mesmo que, tal como Ahmed, Leilah não fale inglês e nos tenha esquecido, eu queria vê‑la, analisar‑lhe o rosto e tentar fazê‑la compreender. Partimos de novo para Marais e Abdul Khada anuncia‑me que tenho de me despedir do meu irmão Ahmed.
‑ O que é que isso quer dizer? Para onde é que vamos? Tu tinhas dito que ficávamos aqui. Tinhas dito que eu podia ficar o tempo que quisesse. Nem sequer vi a minha irmã! Eu fico!
Choro de novo. Hoje parece que tenho torrentes de lágrimas em reserva.
‑ Não podes ficar! A tua irmã Nadia chega amanhã de Inglaterra e tu tens que estar lá comigo para a receber ‑ põe‑se ele a gritar.
Disse amanhã, ontem seria dentro de três dias. Não pára de me mentir, de me manipular como a uma boneca. Mas se há coisa no mundo em que faço questão neste momento, é de ver a Nadia. Por isso, não discuto.
‑ Senta‑te no carro e espera por mim. Vou comprar de beber.
Vejo‑o de longe entrar numa loja a céu aberto, discute com o vendedor, junto de um homem vestido com um traje ocidental e uma gravata. O homem viu‑me e dirige‑se para mim, muito agressivo.
‑ O que é que vens cá fazer?
Fala inglês, encara‑me com malícia, examina‑me de alto a baixo.
‑ Vieste atormentar o Ahmed e a Leilah, foi isso?
Surpreendida com aquela agressividade, não tenho tempo para reagir nem para lhe responder. Ele vai‑se. O único ser que fala inglês nesta aldeia, para além de Abdul Khada, e a quem eu poderia pedir ajuda...
Abdul Khada regressa com algumas garrafas de Coca‑Cola e, vendo‑me estupefacta, pergunta‑me o que se passou. Conto‑lhe a cena e ele olha à sua volta.
‑ Que homem? Não está aqui ninguém.
Efectivamente, o homem desapareceu, o vendedor está sozinho na loja. Abdul Khada franze o sobrolho e parece aborrecido por um instante.
É altura de ir dizer adeus a Ahmed que, desta vez, me aperta com muita força contra si. Estendo a mão ao meu avô, com cortesia, e de imediato o jipe arranca numa nuvem de poeira. Ao voltar‑me, consigo ver Ahmed nessa nuvem, aquele árabe meu irmão, de pé na estrada, agitando as mãos, e parece‑me bem que a chorar.
Tudo é estranho. A rapidez desta viagem, a ausência da minha irmã Leilah. Ahmed a chorar. Aquele velho que tanto se parece com o meu pai.
Procuro informar‑me sobre Ahmed junto de Abdul Khada. Continuo sem saber nada dele, pois não pudemos comunicar.
‑ O teu avô não o deixa casar‑se. Isso é muito duro para um homem. Ele não está autorizado a tocar numa mulher solteira. E se cometer adultério será punido com a morte.
‑ Porque é que ele faz isso?
‑ Não sei. O teu avô é quem decide.
Decidir... sempre o homem. Abdul Khada decide, o avô decide, o meu pai decide...
Pergunto‑me por que terá o meu pai escolhido um dia encerrar o meu irmão e a minha irmã neste país. "Tê‑los‑á vendido também a eles? à minha irmã,....... Ser‑lhe‑ia indiferente fazer sofrer a minha mãe? Talvez." No fundo, nada sei deles e das suas relações. Não me fazia perguntas. " Amar‑se‑iam? Porque é que nunca se casaram?" Os adultos são um mistério. Não percebo nada de nada e a minha ingenuidade traz‑me de volta à minha idade. Tenho apenas dezasseis anos. Em Inglaterra, ainda sou considerada uma adolescente menor. Aqui, querem‑me mulher casada e grávida...
Estou tão cansada que nem sequer me dou conta de que o automóvel abordava de novo a estrada de montanha, a mesma estrada que à ida. E começo outra vez a tremer e a chorar. Cai
a noite. Aquele motorista que mastiga qat, segura o volante com uma mão e bebe Coca‑Cola com a outra, vai‑nos matar. Vai falhar uma curva. Vou morrer.
‑ Não há outra estrada? Não se pode evitar esta montanha?
‑ Não, não há outra estrada e deixa de passar o tempo a queixar‑te!
E tudo recomeça, a queda de pedras, as curvas de pôr os cabelos em pé, as rodas demasiado gastas a derrapar, a Lua por cima de nós, espiando‑nos, e a ravina que já não distingo mas cujo vazio pressinto, até mesmo no meu ventre. Sei que ela lá está, sei que, quase de minuto a minuto, passamos a uns centímetros da morte. Com a cabeça nas mãos, vergada sobre mim mesma, tensa ao ponto de gritar, oiço as pedras rolar, o vento silvando... quando o jipe pára com um rangido pavoroso.
‑ Vamos passar aqui a noite.
Ouso olhar para a minha frente. Diante de nós está uma pequena aldeia deserta, que me parece abandonada e negra, no clarão dos faróis. O jipe parou diante de uma casa antiga de três andares. Descemos. Com a minha malinha na mão, continuo a tremer com todos os meus nervos.
‑ Onde estamos nós?
- Em Ibb.
à porta, recebe‑nos um velho. Abdul Khada diz‑me que ele aluga quartos. Subimos no escuro umas escadas iluminadas por uma lanterna eléctrica. Abre‑se uma porta, tenho um quarto só para mim. Frio, húmido, mas pouco importa. Estendida no chão em cima de um tapete, tremo até de manhã. De cansaço, de emoção e de medo.
Revejo aquele velho de cabelos brancos, o pai do meu pai, aquele que criou a Leilah e o Ahmed. De quem nunca tínhamos noticias, em Birmingham. De quem a mamã já não falava, depois de em vão ter tentado recuperá‑los. Ouvi‑a mesmo dizer um dia, há muito tempo era eu muito pequena ‑ que tinha feito um pedido ao Foreign Office, sem outro resultado para além desta resposta: ‑ Os seus filhos são britânicos pela mãe e iemenitas pelo pai; lá, são considerados cidadãos iemenitas...
E o nosso pai dizia:
‑ O meu pai tem lá uma grande e bonita casa, as crianças queriam lá ficar, terão uma vida bem melhor do que aquela que podemos dar‑lhes em Inglaterra...
"Como podiam eles fazer uma opção daquele género, eram uns bebés. Ao que é que ele chama "vida melhor"?"
Mentira, mentira. Ele partira para o Iémen por nove meses, supostamente para trabalhar e mostrar os filhos ao pai e à mãe. Mentira e desaparecimento dos filhos mais velhos da
família. Promete‑nos férias à beira‑mar, na areia por entre as palmeiras... mentira. Violada e prisioneira.
A mesma sorte espera Nadia, amanhã.
"O que é que a mamã fez? O que sabe ela?"
Deixamos Ibb no dia seguinte de manhã, tão cedo que nem sequer tive tempo para ver ao que é que aquela aldeia se assemelha. Parece‑me que a casa cinzenta onde dormimos fica fora dos seus limites. Na estrada, vislumbro colinas ao longe, por entre a bruma outras casas, campos cultivados, depois de novo o deserto. Cactos e plantas estranhas, que se assemelham a círios, crescendo a direito, eufórbias.
Abdul Khada, que apenas me dá as informações mínimas, disse que íamos a Taez, a casa de um certo Nasser Saleh. Julguei entender que esse homem lhes serve, tanto a ele como a Gowad, de intermediário nos negócios. Faz‑lhes chegar o correio quando eles estão no estrangeiro; o dinheiro que ganham em Inglaterra ou na Arábia Saudita passa igualmente por ele. A Nadia deve chegar a casa desse homem. Deve ter aterrado, como eu, em Sanaa e depois fazer a viagem até aqui.
Vista da estrada, Taez parece uma termiteira. Atravessámos colinas plantadas de qat. Há qat por todo o lado, em torno da cidade, exposto diante das lojas, à cabeça das pessoas, às costas dos burros e dos dromedários.
O carro detém‑se em frente de uma casa bastante grande e limpa; esse tal Nasser Saleh deve ser relativamente abastado. Na casa dos cinquenta, corpulento e de ar jovial, tez muito pálida, como se nunca visse o sol, recebe‑nos com uma saudação em árabe:
‑ As saiam alaykoum...
Subimos uma escada de cimento, que conduz a uma grande sala onde só vejo homens.
Durante todo o trajecto, virei e revirei toda aquela história na cabeça. O mais certo é que a Nadia não saiba de nada. Eles devem ter‑se abstido de lhe dizer o que quer que fosse antes de estar suficientemente longe para já não lhes poder escapar. A minha maninha, tão confiante, tão ingénua... A ideia do que a espera oprime‑me a garganta, como se tivesse engolido um pedaço de pão que se recusa a passar.
Imediatamente vislumbro Abdullah, o meu pretenso marido, naquele grupo de homens, na sua maioria vestidos à europeia. Está ao lado de Gowad e do seu filho Samir. É este o futuro "esposo". Treze anos, um garoto de aspecto menos débil do que o meu, de cara infantil, sem a menor sombra de buço. Os cabelos muito pretos e frisados, olhos pequenos por baixo de uma testa estreita. É magro, mas parece saudável, na sua manta tradicional. Uma vaga de ódio apossa‑se de mim. Procuro Nadia com os olhos e descubro‑a por fim, tranquilamente sentada no meio de todos aqueles homens, com ar cansado, um pouco perdida, como eu mesma estava duas semanas antes.
Ao ver‑lhe a cara, imediatamente compreendo que a minha carta não chegou. Não sabe de nada. Olha à sua volta. Espera. Devem ter‑lhe dito que eu vinha ao seu encontro, ter‑lhe falado de visita à família, de férias...
Então, imobilizo‑me ao cimo daquela escada, diante daquela assembleia de machos, incapaz de avançar. Já não tenho qualquer hipótese de a salvar. Vamos ter de lutar juntas e de juntas fugir. Sinto maior angústia por ela do que senti por mim mesma. Eu sou mais velha, mais forte, mais responsável. E ela é tão nova.
Abdul Khada empurra‑me ligeiramente pelas costas.
‑ A tua irmã está ali, vai‑lhe contar.
‑ Eu não quero contar‑lhe.
‑ Conta‑lhe! É melhor que sejas tu!
É ao mesmo tempo uma ordem e uma ameaça. Decido‑me.
‑ Muito bem, eu vou!
Ele não sente o desprezo que exprimo ao responder‑lhe assim. Está‑se nas tintas para o desprezo. Não sabe sequer o que quer dizer desprezo, aquele fraco.
A Nadia acaba de me ver. No instante em que avanço para ela, levanta‑se com um Sorri so de alívio nos lábios, enquanto eu sinto as lágrimas a brotarem‑me dos olhos, sem conseguir reprimi‑las. Todas aquelas emoções vão‑me destruir, vão‑me matar, vou‑me esvair... há que resistir. Corro para ela, lançamo‑nos nos braços uma da outra. Gostaria de estar calma, de não a amedrontar de imediato, mas é impossível, as lágrimas correm‑me em catadupas.
‑ O que é que se passa? O que é que tens, Zana? Estás doente? Aconteceu alguma coisa? Conta‑me... mas pára de chorar!
Bem queria eu, mas todo o horror da situação se acaba de me revelar. Aquilo a que me obrigaram a sujeitar‑me, desde a minha chegada, aquela violação infame, tudo se torna real, terrivelmente real, enquanto aperto a minha irmã nos meus braços vejo o seu bonito rosto, infantil, liso, com os grandes olhos pretos cercados pelo cansaço da viagem. As imagens acotovelam‑se e encadeiam‑se desordenadamente. O quarto, as paredes sujas, as ameaças, aquela amostra de homem agitando‑se em cima de mim, as pancadas, a minha tentativa de fuga e o nosso irmão Ahmed que ontem chorava e nada me pôde dizer. Essa viagem terrível por aquela estrada de montanha, de noite. Queria contar‑lhe tudo e não encontro as palavras, nem por onde começar.
A Nadia ajuda‑me a sentar‑me numa almofada. Alguém me traz de beber. Recupero um pouco os sentidos e aponto para Samir, o filho de Gowad, no outro lado da sala.
‑ Olha, Nadia, é ele!
‑ Ele o quê?
‑ O filho de Gowad, é o teu marido.
Ela olha para o rapaz, sem perceber, depois encara‑me.
- O que estás tu a dizer, Zana?
Vejo a incompreensão nos seus olhos, deve julgar‑me doente ou autora de uma brincadeira de mau gosto...
‑ O filho de Gowad, esse tal Samir, é teu marido...
Como ela continue a fitar‑me com surpresa, encadeio muito depressa:
‑ O papá casou‑nos. Ele vendeu‑nos... vendeu‑nos por mil libras cada uma. Vendeu‑me ao Abdul Khada; a ti, vendeu‑te ao Gowad.
Nadia fica muda, abana a cabeça, pega nos cabelos que se põe a retorcer; o seu olhar passa do rapaz para mim, várias vezes de seguida. Não acredita, tal como eu ao princípio. Aquilo é de tal forma tresloucado, de tal forma impensável. Samir tem treze anos, é mais novo do que ela um ano. Ela pouca atenção lhe prestou ao chegar aqui.
Dou‑me conta de que é impossível falar naquela sala, no meio de todos aqueles homens. Abdul Khada, sempre atrás de mim, a vigiar‑me, faz‑me sinal para me levantar e leva‑nos às duas para um pequeno quarto vazio, aí nos deixando sozinhas.
‑ Ouve‑me bem, Nadia, o que se está a passar connosco é pavoroso. Repito‑te que o papá nos vendeu, ele casou‑nos... Receberam a minha carta em casa?
‑ Que carta? Não, não recebemos nada. Do que é que estás a falar?
Reconstituo tudo desde a minha chegada, fumando um cigarro a seguir a outro, com todo o meu corpo a tremer, tentando ser precisa.
‑ Eles fecharam‑me num quarto com aquele tal Abdullah, que tu viste, o filho mais novo de Abdul Khada... tem catorze anos. Disseram que se eu não obedecesse, me atariam à cama e me obrigavam a fazê‑lo.
‑ Tu fizeste?
‑ Na primeira noite, não, mas no dia seguinte fui obrigada.
Nadia compreende‑o pouco a pouco e estreita‑me de novo nos seus braços, com compaixão.
‑ O que é que vamos fazer? A mamã não recebeu a tua carta... - Hesita um pouco.... - ou então não me disse nada.
A dúvida instala‑se no seu espírito, tal como comigo. "E se a mamã soubesse? Se ela fosse cúmplice?"
‑ Não, não é possível.
Tudo aquilo que narramos se assemelha a um horrível conto árabe. Somos duas raparigas prisioneiras de bandidos da montanha. Bandidos que circulam em Inglaterra, no mundo europeu, que se não pareciam com bandidos quando iam beber um café com o meu pai. Nós pouco os vimos, não desconfiámos. Temos a desculpa da juventude, mas a mamã?
‑ Não... a mamã não estava ao corrente. Estou certa de que ela não sabia mais do que nós. Estou certa de que ela acredita na história deles. Foi o... Tu não estavas no aeroporto quando eu parti. Perguntei à mamã se podia voltar no caso de o país não me agradar. Ela disse que sim, nunca teria sido capaz de me mentir. Acreditou no pai.
Nadia corrobora‑me, abana a cabeça, murmurando: ‑ Tens razão. ‑ Mas nem uma nem outra podíamos estar certas. Simplesmente, não podíamos suportar a ideia de que a nossa mãe nos tivesse traído e é‑nos indispensável acreditar em alguém, alguém que nos possa ajudar a sair daqui. a fugir. Sem isso... deixaríamos de ter esperança, estaríamos abandonadas para sempre...
Nadia encontra‑se num estado estranho, uma espécie de estupefacção profunda, que eu reconheço por tê‑la sentido antes dela. Compreendeu, "entendeu" aquilo que eu lhe contei, mas ainda não tocou com o dedo a realidade das coisas.
Voltamos ambas para as salas onde os homens conversam, bebem, não se preocupando de todo com a nossa presença, pelo menos aparentemente. Abdul Khada dirige‑se para mim, de expressão impassível.
‑ Disseste‑lhe?
Depois olha para Nadia.
‑ Percebeste?
Ela não responde. A sua cara está lívida e ele não insiste.
A partir daquele instante, Nadia manteve‑se calma, nunca mais sorriu, como se se tivesse afundado definitivamente num poço de silêncio. Em alguns instantes, transformou‑se sob o meu olhar numa espécie de zombi de olhar triste. A adolescente aberta, sempre alegre e divertida, já não existe. Esperamos ambas que os homens nos levem de novo para o Land Rover. Incapazes de falar mais, reflectimos, cada uma de seu lado, em silêncio. Aparentemente submissas, dóceis.
O automóvel arranca e leva‑nos. Pouco importa a cidade, as ruas, as casas, não vejo nada, é‑me tudo indiferente. Este país não me interessa, não passa de uma prisão, e as prisões têm todas a mesma cor. Nelas, o tempo não existe. Rodamos em direcção à aldeia onde a Nadia de ora avante terá de viver com aquele tal Samir de treze anos, em casa de Gowad. Sei que fica a apenas meia hora de caminho daquela onde me mantêm prisioneira. Chama‑se Ashube; a minha, Hockail. A cada uma o seu desterro. Nesse dia só tenho uma ideia fixa em mente: inventar qualquer coisa, um meio de preservar a minha irmã. Recuso‑me a que a violem. A minha maninha, quase a minha filha.
Ajuda‑nos, mamã. Aquilo que eu suporto, não o conseguirá a Nadia suportar. Eles vão fazer dela uma morta‑viva.
Ashube, a aldeia de Gowad. Casas comprimidas umas de encontro às outras; o Land Rover detém‑se diante de uma delas. Gowad e o seu filho Samir são os primeiros a descer. Abdul Khada faz sinal a Nadia para que os acompanhe.
Imediatamente enfrento Abdul Khada.
‑ Onde é que ela vai?
‑ Vai para casa de Gowad. Viremos vê‑la amanhã.
O pânico reapossa‑se de mim perante a ideia de ser separada de Nadia tão depressa. Incapaz de me controlar, ponho‑me a gritar dentro do automóvel, enquanto Nadia chora silenciosamente na berma da estrada.
‑ Deixa‑nos juntas! Por favor! Ela acaba de chegar!
Eles olham‑me os três com ar de enfado, tão‑somente de enfado. Como se eu não passasse de uma galinha de capoeira a fazer barulho em excesso. Acalmo‑me. Aqueles homens fazem‑me reagir de forma estranha, torno‑me verdadeiramente histérica, o que não serve para nada. Gritar, chorar, tudo isso lhes é completamente indiferente. Batem com as portas e Nadia afasta‑se com os dois homens, de cabeça baixa. Não consigo olhar para ela, aquilo é insuportável. Com a cara escondida nas mãos, impotente, choro, ao imaginar o que a espera. Gostaria, não sei, de lhe explicar... de a prevenir. Ela ignora tudo das relações sexuais, delas apenas tem uma ideia romântica, ideal. Tal como eu, a partir daquilo que vimos no cinema ou nos livros.
Abdul Khada regressa de imediato e o automóvel arranca. O motorista está completamente indiferente, Abdullah desvia o olhar, eu passo dos choros a um novo furor.
‑ Tu não passas de um monstro! Achas que tudo te é permitido! Não tens o direito de me separar da minha irmã! Sádico, violador...
Da minha boca saem, descontroladas, as maiores injúrias; trato‑o diante dos outros por todos os nomes que me vêm à mente. Sei perfeitamente que isso não só é inútil, como que vou provavelmente pagá‑lo, mas pouco importa, alivia‑me.
‑ Tens medo de nos deixar juntas? Eu quero ficar com ela!
‑ Vocês não podem ficar juntas, agora estão casadas, tendes de viver cada uma em sua casa.
‑ Detesto‑te! Amaldiçoo‑te a ti, à tua família e à tua casa!
‑ Tu pertences à família, és casada com o meu filho.
Aquele diálogo de surdos é esgotante.
‑ Nós não somos casadas, isso é uma mentira! Ninguém tem o direito de nos casar se nós não quisermos. A Nadia não é casada com ninguém e eu também não!
Ele encolhe os ombros.
‑ Arabe canalha! Hás‑de pagá‑lo! Hás‑de pagar aquilo que nos fazes suportar! Isso há-de ser pior ainda!
A injúria mais grave, na minha concepção, aquele "árabe canalha", não lhe provoca maior reacção do que as outras. Posso repeti‑la à vontade, deleitar‑me com ela, é exactamente como se soprasse ao vento. Aos seus olhos não me manterei por muito tempo inglesa. Ele encetou a tarefa de me transformar em árabe. Basta‑lhe provavelmente que o meu pai seja jemenita, despreza o resto, a minha cultura, a minha educação, o meu espírito inglês.
‑ Quero voltar para o pé dela!
‑ Não. Havemos de ir lá amanhã. Mas não falas com ela de nada.
‑ Eu digo‑lhe o que quiser!
‑ Se a amedrontares, cuida de ti.
Desta vez proferiu a ameaça olhando‑me nos olhos, de frente. Tenho de me mostrar diplomática, de readquirir o controlo. Não é assim que vou compor as coisas. E no entanto prometera a mim mesma ser dissimulada, ser hipócrita enquanto esperava por uma brecha, por alguém, por ajuda, não sei... aquilo a que se chama esperança. As circunstâncias tornaram‑me agressiva. Dantes, não me encolerizava facilmente. Creio que aquilo nunca me tinha pura e simplesmente acontecido em Birmingham. Nem mesmo com o meu pai alguma vez discuti. Aqui, sinto que estou a tornar‑me num animal selvagem.
O caminho entre as duas aldeias é relativamente curto. Descemos, como da outra vez, no sopé da colina. Há que fazer o resto a pé. Se quisesse fugir para ir ter com a minha irmã, só poderia tomar um carreiro difícil, que parte de detrás da casa de Abdul Khada, e andar cerca de meia hora por entre as urzes, à mercê das serpentes e de outros animais desconhecidos. Eles não têm qualquer dificuldade em nos manterem em cativeiro. Este país é, por si só, uma prisão para uma estrangeira. Nele, uma mulher não pode andar sozinha, fora dos carreiros estabelecidos, num círculo restrito ao redor de sua casa e da aldeia. Uma inglesa não faria dois quilómetros sem se fazer notar. E a inglesa que eu sou não saberia, de qualquer maneira, que direcção tomar e para onde ir. A minha única referência é a aldeia da Nadia e a minha.
O choro é o único alívio imediato, depois das injúrias. E o único refúgio é o meu quarto. Nem sequer tenho coragem para desfazer a minha maleta. Só a ideia de me ir lavar àquela esplunca, só a ideia de me sujeitar, esta noite de novo, ao ritual imbecil que aquele garoto pratica...
No dia seguinte de manhã sou a primeira a levantar e começo a seguir todos os passos de Abdul Khada, como uma criança, perguntando‑lhe incansavelmente quando é que vamos ver a Nadia. Partimos os dois, seguindo pelo mesmo caminho que eu tentei superar na minha tentativa de fuga. Um caminho estreito, ao longo dos campos, marginado por muros baixos, por valados espinhosos, depois através de bosques sombrios. O meu cálculo estava certo, andamos cerca de meia hora antes de chegar a Ashube e a casa de Gowad, já cheia de gente. Montes de pessoas vieram cumprimentar os viajantes regressados de Inglaterra. Os homens numa divisão, as mulheres noutra, como de costume.
Quando conheci Gowad, na qualidade de "amigo" do meu pai, tal como Abdul Khada, não lhe prestei muita atenção. Um homem de cerca de cinquenta anos, calvo, a dar para o gordo, muito alto, uma cara tremendamente feia, que luzia frequentemente de transpiração, uma mescla de severidade e de flacidez, cabelos curtos e frisados.
Vestido à ocidental, não diferia dos outros amigos do meu pai. Aqui, tal como Abdul Khada, é outro homem. A sua mulher mantém‑se à distância, ele reina como dono e senhor em sua casa. Tornou a vestir a manta, mastiga qat, conversa com as visitas em árabe, com ar importante.
O trabalhador imigrado regressado ao país tem tantas coisas para contar àqueles aldeões. Tudo aquilo que viu em Inglaterra, o dinheiro que ganhou... Odeio‑os. Em minha casa, em Birmingham, era diferente. Mas aqui odeio‑os. Eles roubaram‑me. Roubaram a Nadia.
A Nadia não está com as mulheres, indicam‑me um outro quarto e eu precipito‑me para lá. Está sentada em cima de uma cama, idêntica à minha, e eu atiro‑me para os seus braços a chorar. Também ela irrompe em soluços e durante alguns minutos somos incapazes de falar. Depois peço‑lhe, com angústia, para me contar o que se passou e o que lhe fizeram.
‑ O Gowad disse ao rapaz que ele tinha de dormir comigo à noite; ele não parecia querer, acho que tinha medo, ainda é pequeno. Então, o Gowad arrastou‑me aqui para o quarto, e fechou a porta. Eu sentei‑me e fiquei à espera. Conseguia ouvi‑los a discutir aqui ao lado, sem perceber o que diziam. O Gowad gritava muito com o Samir, suponho que ele persistia em não querer vir dormir comigo. Bateu‑lhe, muito violentamente, o rapaz gritava e chorava. Foi horrível... Zana... horrível... então, saí para o corredor para tentar ouvir melhor, mas estava com medo. Se ele batia no filho, ia‑me bater a mim também, percebes?
Nadia retoma um pouco o fôlego, durante alguns minutos, e eu embalo‑a de encontro a mim.
‑ Abriu‑se uma porta, o Gowad avançou para mim, eu pus‑me a chorar, disse que queria ir para casa, insultei‑o mesmo. Então, ele bateu‑me.
‑ Onde? O que é que ele te fez?
‑ Deu‑me um pontapé nas costelas, empurrou‑me para o quarto aos pontapés e disse‑me em inglês que o filho não gostava de mim, que tinha medo de mim, que ia obrigá‑lo a ir para a cama comigo, à força. Depois, agarrou Samir pelo pescoço e atirou‑o para o quarto como a um cão. Ele chorava realmente, tinha as faces encarnadas e agarrava a cabeça. O pai fechou a porta à chave. Nunca hei‑de esquecer esta noite...
‑ Fez‑te mal?
‑ Fez. Humilhou‑me...
A Nadia deixara de ser virgem. A Nadia, secreta e torturada, mais não dirá, nem mesmo
a mim, a sua própria irmã. Humilhada. Aquele garoto de apenas treze anos é mais forte do que o meu pretenso marido. Temia a impureza da inglesa, mas mais ainda o seu pai e obedeceu‑lhe. Esta gente é louca e ignóbil. Constranger o seu próprio filho a concretizar um acto sexual.
Bater‑lhe para isso. O que esperam eles?
A mulher de Gowad, Salama, parece mais compreensiva com a minha irmã do que Ward o é comigo. Não é o mesmo tipo de mulher: franzina, bronzeada, com uns olhos impressionantemente pretos e brilhantes, mas mais de gentileza do que de agressividade. Veio consolar a Nadia esta manhã. A Nadia não compreendeu a língua, mas os gestos eram tranquilizadores. Como os de uma mãe desolada pela sua própria filha. Desolada, é tudo quanto ela pode estar. Tanto para ela como para as outras mulheres, a obediência é de regra, o casamento é o casamento, o filho tem de fazer filhos a uma outra mulher e para além do cumprimento desse bárbaro ritual nada conta. Nem o amor, nem as repulsas, não há a menor escolha. E nós temos de viver como elas. A sogra da Nadia é simplesmente mais humana, mais normal do que a minha. Eu não percebo quase nada de árabe, mas percebo o suficiente para no outro dia ter ouvido Ward tratar‑me por "puta branca". Aquela mulher é má, ciumenta e mesquinha por natureza...
Ficamos no quarto, coladas uma à outra, à deriva por entre choros, fazendo de novo mil perguntas, oscilando entre a esperança e o desespero. "Porque é que o nosso pai fez isto? Será a mamã cúmplice? Sim... "
De onde poderia vir‑nos o auxílio? Temos de persistir em escrever à mamã. Temos também de pedir, todos os dias, para voltar para casa. Temos de cansar esta gente. De lhes mostrar que jamais seremos como eles, de permanecer as duas jovens inglesas que eles raptaram. Sujeitar‑nos, mas não aceitar nada. Nunca.
Pergunto a Abdul Khad porque é que Gowad bateu no filho.
‑ Não queria ir para a cama com a tua irmã. está mal vestida, tem os cabelos descobertos, é impura.
‑ Então não era preciso obrigá‑lo.
‑ Isso é o pai dele quem decide, não ele. Ele não pretendia uma noiva estrangeira e disse‑o ao pai. Isso é um insulto à autoridade do pai. O pai tinha de lhe bater por isso e ele tinha de obedecer. É tudo.
O pai... o pai... sempre o pai. Nesta sociedade, só o pai conta. Mulheres, filhos, tudo tem de lhes ceder. Usam o seu grande punhal à cintura e passeiam‑se com um ar ameaçador, quando nunca se servem dele. A maior parte deles trabalha no estrangeiro, vive lado a lado com a civilização, montes de gente de raças diferentes, culturas diferentes. Para o seu país só trazem o dinheiro, a Coca‑Cola, os cigarros, as conservas. Quanto ao resto, nada muda. Pelo menos aqui, nas aldeias.
O dia decorre assim, as mulheres de um lado, os homens do outro e a Nadia e eu sentadas em cima da cama dela.
Esta casa é um pouco mais pequena do que a de Abdul Khada, pois a família é menos numerosa. Há aqui o Gowad e Salama, os seus dois filhos, Samir e Shiab, que só tem cinco anos. Pareceu‑me que Salama estava grávida.
O quarto reservado a Nadia e ao seu "esposo" é semelhante ao meu. Os mesmos móveis de base, isto é uma cama, um banco. Umas janelas ainda mais pequenas do que as
minhas tornam‑no mais escuro, nele sentimos‑nos permanentemente enclausuradas.
O salão, em contrapartida, é grande e luminoso, bem arejado, e o cubículo da retrete comporta uma janela. Elemento precioso, que permite ir lá sem o auxílio de uma tocha.
O tecto é de igual modo bastante alto, não somos obrigados a manter‑nos curvadas.
Tal como em casa de Abdul Khada, a cozinha faz‑se no telhado da casa, para que o fumo não seja retido lá dentro. Também eles têm pequenos fogões a petróleo, nos quais fumegam permanentemente chaleiras.
Ontem à noite a Nadia teve direito a comida quase europeia. Gowad usou da mesma técnica que Abdul Khada. Julgam lisonjear‑nos e compram‑nos os alimentos que é suposto desejarmos. Como se isso alterasse alguma coisa à nossa prisão
Duvido que essa concessão dure muito tempo. Por enquanto, a única coisa que me importa é manter‑me em contacto permanente com a Nadia. Quero vê‑la todos os dias.
No dia seguinte e durante uma semana, isso é‑nos permitido. Posso descer a Ashube, pelo carreiro pedregoso, acompanhada por Abdul Khada, evidentemente. Sozinha, nunca. Mas uma vez em casa de Gowad, deixam‑nos em paz.
Subimos então ao telhado em terraço para ver o céu e o Sol, lá adiante. Falamos da mamã, de Birmingham, sonhamos com o helicóptero que viria sobrevoar a aldeia, lançava uma corda e nos levava para longe daqui, como pássaros.
Revermo‑nos no nosso quarto em Birmingham. O quarto das irmãs, onde a Nadia e eu fazíamos uma algazarra para saber qual de nós ia passear a terceira, Ashia.
‑ É a tua vez.
‑ Não, é a tua e a Ashia vociferava:
‑ Vou dizer ao pai. vou‑lhe dizer que vocês vão passear sozinhas, à noite...‑ A Ashia batendo o pé em cima da cobérta às flores, a atirar‑nos a almofada à cara, fingindo estar zangada, quando eu lhe respondia firmemente:
‑ Tu és muito pequena. ‑ O quarto das irmãs, onde o mano pequeno não tinha direito de entrar para semear a barafunda com a sua bola... A nossa infância.
Deitadas naquele terraço, tomávamos banhos de sol imaginando a praia. Evitando falar das noites de angústia. Lavando‑nos de dia naquela luz insolente. Bronzeando‑nos, como duas garotas em férias. Comparar o nosso queimado. Esperar. Ler e reler os postais do meu aniversário. Estão todos bem e mandam‑te um beijo. Todo o meu amor.
Julgam‑nos de férias, em Birmingham.
E todos os dias retomo o carreiro, meia hora de caminho à ida, outro tanto à volta. E todos os dias, nas costas de Abdul Khada, falo com aqueles tacões que à minha frente sobem o rochedo:
‑ Quando é que nos levas para Inglaterra?
Espero que aquela frasesinha incansavelmente destilada, em todos os tons, se torne como que um veneno na sua cabeça. Que fique farto de a ouvir. Que nos atire para dentro de um Land Rover, a caminho de Saana. Se fôssemos a caminho de Saana, transporia quaisquer ravinas, em plena noite, sem dizer uma palavra. Abdul Khada adivinha‑o.
‑ Se tencionas fugir de novo, não penses mais nisso. Os lobos e as hienas ter‑te‑ão devorado antes de chegares ao vale.
Aquelas tardes no telhado de Gowad parecem‑me deslocadas do tempo, deslocadas do mundo. O simples prazer sentido ao contemplar os meus braços e as minhas pernas bronzeados pelo sol da montanha é uma bolha de inconsciência. Mais lucidamente, posso contemplar as cicatrizes das chagas devidas aos mosquitos e o número de cigarros fumados, entre quarenta e sessenta por dia.
Quando vamos ao armazém ou a Ashube, Abdul Khada obriga‑me sempre a ir pelo caminho desviado, para que os homens não me vejam. É um trajecto medonho, os bosques que atravessamos estão infestados de serpentes e de escorpiões. Sei que há aí lobos e hienas, ouvimo‑los à noite. De dia não se mostram, mas... são guardas tão seguros como homens armados. Os babuinos mostram‑se por vezes ameaçadores, tem de se lhes dar caça permanentemente. Do meu quarto, é uma distracção vê‑los saltar pelos campos, mas no caminho fazem realmente medo. As outras mulheres lançam‑lhes pedras, gritam, fazem gestos largos para os assustar. Eu ainda não me atrevo a imitá-las, avanço atrás das costas do meu carcereiro, sigo‑lhe as pegadas. Quando penso nos passeios de Birmingham, nas ruas, nas montras das lojas... sou possuída por raiva suficiente para esmagar um escorpião com uma patada.
Abdul Khada tem ciúmes de todas as mulheres da sua família. Por princípio, não quer que outros homens as vejam. Eu coloco‑lhe um problema suplementar, com a minha recusa em me vestir como uma iemenita. Por outro lado, ele sabe que me quero escapulir, não pode confiar em mim e deixar‑me ir ver a Nadia sem me acompanhar. No caminho, apenas os animais são testemunhas da minha "indecência britânica". Na aldeia, cruzamo‑nos com alguns homens. E sempre que encontramos um que fala inglês precipito‑me para ele, pedindo‑lhe para me ajudar. Ignoram‑me quase todos, tal como os que vão lá a casa em visita. Em vão recorri a subterfúgios para lhes falar a sós. Alguns têm a cortesia de me responder:
‑ Hás‑de habituar‑te a isto, estás casada. Deixa o tempo tratar disso, hás‑de esquecer a tua mãe e o teu pai.
Ou então:
- Não tentes ir‑te embora e não dês más ideias às outras mulheres. A lei é a autoridade do chefe da casa.
Outros limitam‑se a afastar‑se sem responder. Talvez tenham vergonha do meu jeito de lhes falar assim tão directamente. Mas creio também que, de uma forma ou de outra, todos estão relacionados com Abdul Khada. Quer pelo trabalho, quer pelo sangue, pelo casamento, ou por uma combinação dos três.
De qualquer maneira, é‑me muito difícil falar com eles, pois a partir do momento em que há visitas Abdul Khada manda‑me retirar para o meu quarto sem qualquer cortesia:
‑ Desampara a loja.
Nos primeiros dias ainda podia abordá‑los, como o teria feito em Inglaterra, mas à medida que a seus olhos eu me tornava uma mulher árabe como as outras, Abdul Khada mostrou‑se mais rígido, mais inflexível.
Quanto às minhas relações com Ward, são nulas. Ela odeia‑me desde o princípio e não compreende por que não assumo eu, como ela e a sua outra nora, Bakela, as diárias e arrasadoras tarefas reservadas às mulheres.
Procuro estabelecer um contacto com alguém que aceite levar uma carta para a minha mãe, e pô‑la no correio, mas depressa tenho de renunciar a dirigir‑me aos homens da aldeia que falam inglês. É impossível confiar neles, entregariam a carta a Abdul Khada e eu pagá‑lo‑ia provavelmente muito caro.
Quanto a Nadia, apesar da relativa simpatia que Salama, a sua "sogra", parece dedicar‑lhe, não tem qualquer esperança. Gowad contenta‑se em fazer troça sempre que ela lhe pede
para a mandar para casa. Não sai, só as mulheres lhe fazem companhia.
Investi‑me, pois, sozinha, do dever de nos tirar dali. Infelizmente, os dias passam sob o sol de chumbo e eu bem posso analisar cada cara, que nela não vislumbro qualquer simpatia.
Por vezes invade‑me uma enorme angústia. Sinto‑me criança, esmagada por aquele destino descabido. Outras, sinto‑me forte, determinada, agressiva, e o combate singular empreendido com Abdul Khada recomeça:
‑ Leva‑me de volta para Inglaterra! Hás‑de ser punido, se me mantiveres aqui vais para a prisão!
Mas à noite, todas as noites me remetem à minha infamante condição. Dormir com Abdullah. Com aquele garoto enfezado. Sentir‑me suja ao ponto de sonhar com um poço para nele desaparecer. Esforço‑me por manter as roupas no corpo, como protecção, durmo com uma longa camisa de noite e nunca largo as roupas interiores. De manhã vou lavá‑las, com o meu próprio sabonete, que começa a diminuir a olhos vistos. Lavar‑me é a única coisa que me alivia um pouco. Que me liberta daquela porcaria moral, daquela sujidade a que eles chamam "casamento".
Hoje, reunião de qat em casa de Gowad. Gastam imenso dinheiro com aquelas folhas. Também eu tentei mastigá‑las, na esperança de que aquilo me permitisse dormir de noite, esquecer o corpo do outro ao meu lado, fechar os olhos, enfim. Porque me tornei insomne, aquele quarto angustia‑me, o cheiro de Abdullah angustia‑me. Se não tivesse medo dos animais selvagens, da noite e do frio, dormia lá fora. Se tivesse comprimidos para dormir, engolia o frasco. Então experimentei o qat. Sentada em frente de casa, ao lado do velho cego, observei‑lhe a bochecha desmesuradamente inchada, à medida que ele introduzia as folhas, e imitei‑o. Ao princípio, isso fez‑me dormir, depois renunciei. Aquilo deixava‑me mais enjoada do que outra coisa. E era também uma maneira de me comportar como eles, coisa a que devia recusar.
Eles pretendem que aquilo cura tudo, que tira o cansaço, a fome e a sede. Essa planta é tão importante para eles como a alimentação. Vemo‑la mesmo na nota de um rial. O qat cresce em campos imensos, que se assemelham às áleas de alfena visíveis diante das casas inglesas. As folhas compram‑se na quitanda da aldeia ou ao vendedor ambulante que as transporta às costas de um burro. Abdul Khada explicou‑me que existiam várias qualidades dela, das quais a melhor vem de África, de barco. O qat da região é amargo e de qualidade medíocre.
Durante o dia, os homens reúnem‑se e mastigam durante horas as folhas verdes novas. Mascam, fazem uma espécie de bola que deforma a cara. E as horas assim se passam, a mastigar, a cuspir, a conversar.
As mulheres preferem fumar uma erva a que chamam tutan. E uma espécie de lasca de madeira, que elas queimam em carvão de madeira, depois de o terem reduzido a bocadinhos.
Para lhe aspirarem o fumo acre, usam um cachimbo. Não têm direito a fumar cigarros, como os homens. Eu sim, e faço questão nisso. Compra‑mos o Abdul Khada e, curiosamente, não faz qualquer observação a esse propósito.
Espera, talvez, cativar‑me ao autorizar esse desvio à norma. Hoje devo ter fumado um maço à tarde, enquanto, pela centésima vez, a Nadia e eu falamos de novo da mamã, antes de eu retomar o caminho da minha aldeia‑prisão. A minha irmã está pálida, mas não se queixa. às vezes, sinto‑a distante, a pairar no vazio, inacessível. É sua forma peculiar de recusar a realidade.
Abdul Khada aparece à porta do quarto.
‑ Tens de dar notícias à tua mãe.
Desconfio.
‑ Ela recebeu a minha carta?
‑ Deve ter recebido, mas tens de lhe dizer como tu e a Nadia estão.
Tento pensar rapidamente. É claro... ele tem medo que, sem notícias da chegada da Nadia, a mamã fique preocupada e lhe crie aborrecimentos. A mamã não está, portanto, ao corrente. Ignora que o nosso pai nos vendeu. E, no que respeita aos nossos raptores, é necessário que o ignore o máximo de tempo possível. Ele vai obrigar‑me a mentir. Terei de me recusar a dar‑lhe notícias nossas. Mas por outro lado, esse é o único meio de tentar qualquer coisa, de insinuar uma frase que ele não compreenda, por muito bem que leia inglês.
Escrever por exemplo: "Querida mamã, estou casada com Abdullah, está tudo bem..." Não, ele não me deixaria escrever isso. Então, talvez: "Querida mamã, este país é muito bonito, tens em absoluto de nos vir visitar." Isso é descabido, ela não compreenderá o segundo sentido. Rebusco, rebusco ansiosamente. Mas Abdul Khada interrompe a minha reflexão.
‑ Vais gravar uma cassete.
"Uma cassete? É esse o método deles. Já o utilizaram em relação ao meu irmão Ahmed e à minha irmã Leilah." Uma cassete gravada em árabe, e que o meu pai traduzia à minha mãe. Se eles me deixarem gravar uma cassete em inglês, talvez tenha maneira de insinuar alguma coisa... tenho cassetes, tenho o meu gravador.
‑ Está bem. Faço‑o esta noite no meu quarto.
Nadia olha‑me com esperança.
‑ Não, aqui, connosco.
Connosco, isso quer dizer que na divisão reservada às reuniões de homens. E nesse dia eles são inúmeros. Amigos de Abdul Khada, o seu filho Mohammed, o Abdullah, meu suposto marido, Gowad e Samir, o suposto marido de Nadia. Dir‑se‑ia um tribunal de lobos para duas ovelhas.
‑ Tens de dizer que o Iémen é um país magnífico. Que nós estamos para matar um carneiro, para uma festa, tens de dizer que estás feliz. A Nadia também o dirá.
É terrível aquilo que eles nos obrigam a fazer. Eu estou para ali, sentada numa almofada, a Nadia encostada a mim, diante de todos aqueles homens atentos, de olhar ameaçador. Tenho de pegar no pequeno aparelho e de ser a primeira a começar, meter a cassete, carregar no botão de gravação e falar para o microfone lateral. Fixo aquele minúsculo buraco preto, que vai levar a minha voz até Birmingham. Tremo da cabeça aos pés.
‑ Querida mamã... a Nadia chegou bem, estamos numa bonita aldeia, e o Iémen é magnífico. Aqui, vão matar um carneiro para a festa em nossa honra. Estamos muito felizes. Um beijo para todos, para a Ashia e para o Mo. Diz‑lhes que gosto muito deles. Mando‑te um beijo, e a Nadia também. Até breve mamã...
Morria de raiva e de frustração.
A Nadia tem a voz ainda mais velada e trémula do que a minha. Esforça‑se por repetir as mesmas inépcias a seguir a mim. Como o zombi em que se tornou, sem violência, sem agressividade, morta. Já não consigo sequer fazê‑la sorrir quando estamos sozinhas. E isso é para mim uma humilhação ainda maior do que vê‑la obedecer, do que ouvi‑la murmurar "estou feliz por estar aqui" sem poder gritar o contrário.
A mamã vai acreditar naquilo. Assumi sem esforço a minha voz mais triste e a Nadia também, para que ela adivinhe. Mas adivinhará? Eles são maquiavélicos ao obrigarem‑nos àquela farsa de felicidade em conserva.
‑ Quando é que nos levas de volta para Inglaterra?
‑ Quando estiveres grávida, podes ir dar à luz junto da tua mãe.
Não consigo impedir‑me de mostrar o meu ódio, e esse ódio esbarra inevitavelmente com o menosprezo. O que nós sentimos não lhes interessa. Procuram lavar‑nos o cérebro, tornar‑nos iemenitas, eternas escravas. Mas eu agarro‑me àquela promessa, mentira ou não... Se ficar grávida, se for dar à luz a Inglaterra, de lá hei‑de fazer‑lhes todo o mal possível.
Enquanto isso, a cassete desaparece no bolso de Abdul Khada. As nossas duas vozes vão deixar o país encerradas naquele objectozinho de plástico, voar por sobre oceanos, levadas não sei por que mãos estranhas. Imagino a mamã a abrir a pequena encomenda... em casa, ou talvez no restaurante, dando notícias nossas aos amigos, dizendo: ‑ Estão a ter uma viagem magnífica... ‑ Imagino o nosso pai a dizer diante do seu copo de cerveja: ‑ Elas vão aprender a verdadeira vida das mulheres árabes, a disciplina e o respeito.
Ele não nos ama, não ama nenhum dos seus filhos. Nenhum pai, amando os filhos, poderia agir como ele o fez. Não ama Deus nem o Diabo, só ama o dinheiro. Deixou‑nos crescer, criar, como gado para vender.
A um sinal de Abdul Khada, tenho de o seguir e voltar para casa. Nascer do Sol, pôr do Sol, os dias e as noites passam sem datas, sem referências, estranha sensação de tempo parado.
A violação parou o tempo, imobilizou‑o. Pregou‑me naquela aldeia, no meio das colinas.
Começo a enxotar os mosquitos por hábito, começo a andar evitando os escorpiões por hábito.
Mas se, por acaso, à noite, Abdullah não me vem apoquentar, refugio‑me num sonho interior
em que danço com o Mackie. Eles não me podem roubar a cabeça. Pagaram o meu corpo, não a minha cabeça. E dentro da cabeça, está o ódio por eles e o sonho de liberdade. A liberdade
é a coisa mais preciosa do mundo.
Tenho a liberdade na cabeça quando vejo Ward cozer a massa na brasa, mergulhar as mãos calosas no fogo do forno, transpirar, arrastar o seu corpo pesado a caminho do poço, carregada de bidões de água, e lançar‑me por vezes um olhar de inveja. "Não te ensinaram a liberdade na escola, Ward. A mim, sim. É um privilégio sabermos que somos iguais aos outros. E isso não se esquece, mesmo na humilhação, mesmo aprisionada nesta sociedade retrógrada."
Na sociedade iemenita, quando uma rapariga se casa espera‑se dela que divida as cargas de trabalho com as outras mulheres da família. É suposto uma rapariga da minha idade aliviar as mais velhas. Tal como todos os chefes de família, Abdul Khada e Gowad também nos compraram para isso. Com esse mesmo objectivo, casam os seus filhos com raparigas fisicamente resistentes e de boa saúde, muitas vezes mais velhas. Dei‑me conta disso na aldeia, ao olhar à minha volta. Mal as miudinhas sabem andar, transportam água à cabeça, apanham lenha e tratam dos animais.
Logo no primeiro dia, obrigaram a Nadia a transportar a água. Isso consiste em pôr à cabeça um bidão de vinte litros, a que chamam tanaké, ir até à nascente, voltar com esse bidão cheio em cima da cabeça e recomeçar até que a cisterna da casa esteja cheia. Tarefa diária arrasadora, à qual há que juntar a apanha da lenha ou da bosta seca, da forragem para os animais, a lida da casa, a cozinha.
A casa de Abdul Khada, construída em altura, torna ainda mais difícil este género de tarefa. É necessário carregar a água até doze vezes ao dia, escalando um caminho difícil...
‑ Ela tem de trabalhar. Eu tenho direito ao descanso ‑ declara Ward um dia ao marido, apontando para mim.
Até aqui, Abdul Khada não me pedira nada e ela devia começar a achar a espera longa. Para que teria ele casado o filho e pago tão caro...
Servem‑se de um poço num campo próximo, a cerca de vinte minutos de caminho. Tenho de ir lá com a pequena Tamanay, de apenas cinco anos mas que tem um bidão do seu tamanho que transporta habilmente à cabeça. Explicam‑me que se esse poço estiver seco terei de me dirigir a um outro e de andar mais vinte minutos. Da primeira vez, Ward e Bakela acompanham‑me.
Eis‑me no carreiro, mulher árabe entre as mulheres árabes, excepção feita à minha indumentária. O Sol ainda não nasceu. São apenas cinco da manhã. Mas apesar daquela hora matutina as serpentes enroscam‑se já nos cerrados, muitas delas venenosas, e nós nem sempre as distinguimos. Têm todas as formas e cores possíveis.
Há uns dias, quase morreu um homem, o irmão de Ward. Ouvimos um grito penetrante vindo lá de baixo, da aldeia, e alguém veio preveni‑la de que era o irmão. Uma serpente mordera‑lhe no tornozelo. Toda a família o foi ver a casa. Estava estendido em cima da cama, em pleno delírio. Não havia nenhum médico para o tratar. Algumas mulheres prepararam uma espécie de unguento para lhe aplicar sobre a chaga. Sarou, mas desde então olho mais atentamente para onde ponho os olhos, coisa que hoje não é fácil, com este bidão à cabeça.
Aquele carregamento de água exigido por Ward é mais uma etapa da subjugação por eles empreendida. Esperam assim quebrar‑nos pouco a pouco, reduzir‑nos as liberdades através da escravatura diária.
O poço é um local importante, tendo as mulheres de tirar os sapatos para lá chegarem. Fica à flor da terra, mas é cercado de cimento, protegido por grades. O que não impede as rãs e os insectos de pulular. Uma visão horrorosa para mim. As mulheres são obrigadas a enxotá‑los à mão, do rebordo, para chegarem ao poço. Eu bebi daquela água sem lhe conhecer a origem e nos primeiros dias ela deixara‑me doente. Deve haver ali dentro toda a espécie de germes, de doenças, e aparentemente cria‑se‑lhes o hábito. A água tem um gosto peculiar, gosto a chuva. Ao raiar da aurora, está ainda fresca, mas com o passar do dia aquece. Os reservatórios da casa esvaziam‑se regularmente e nesse primeiro dia tive de fazer mais três viagens à tarde e uma à noite. Doem‑me tanto as costas que me atiro para cima da cama.
No dia seguinte, cabe‑me a apanha de lenha. Os homens cortaram alguns ramos que nós temos de transportar em feixes, para os armazenar na cave. Após o que me enfiam na cozinha, com as mãos no fogo, para cozinhar crepes de farinha de trigo.
Trabalho de contínuo com Ward e quanto mais nos conhecemos menos nos suportamos. O meu comportamento não pode mudar. Odeio‑a. Evito‑a ao máximo, virando‑lhe as costas, recusando o seu olhar; prefiro Bakela, a mulher de Mohammed, de certa forma minha "cunhada", e as suas duas meninas. É com elas que vou agora ao poço. É com elas que tento aprender a falar árabe. Ou com Haola.
Sinto‑me melhor com as crianças. A elas, pelo menos, não tenho qualquer razão para odiar. Fazem‑me pensar nas minhas maninhas Ashia e Tina, no meu maninho Mo. Era com eles que eu devia estar neste momento. Estão a crescer sem que eu os veja, tenho tantas saudades. Mas as crianças daqui aliviam‑me, com elas a comunicação é mais fácil. Comunicar... falar inglês com alguém para além da Nadia, com quem agora estou menos e nem todos os dias, só me é possível com os dois homens da casa. Falar não é, aliás, o termo. Interrogar, perguntar o essencial, ou seja, "quando é que me levas de volta para Inglaterra...", ou "preciso de cigarrros". Quanto ao resto, faço por vezes figura de surda‑muda, sondando as mímicas, as expressões, os esgares, as atitudes. Uma prisão adicional, este silêncio.
Como há meses não chove e a seca se prevê temível, esta manhã vamos com Haola até ao poço mais distante. Ao contornarmos uma montanha, de súbito, eu recuo apavorada. Haola imobiliza‑se também diante de um pequeno monstro que nos enfrenta no carreiro abrupto. Dir‑se‑ia uma cria de dinossauro com cerca de um metro e meio da cabeça à cauda. Ergue‑se sobre as patas traseiras e olha‑nos a direito nos olhos, de boca aberta, dando lugar a umas mandíbulas aguçadas e babosas.
Agarro Haola pelo braço, gritando‑lhe que fujamos, mas ela recusa‑se a mexer‑se e sussurra‑me que não tenha medo.
‑ Ele corre depressa como tu... tu corres, ele corre... compreendes.
Compreendi. Mas um suor frio gela‑me as costas.
‑ Não te aproximes... ele morde‑te...
E Haola faz um gesto com a mão, os dedos em forma de mandíbula no meu braço, para melhor me dar a compreender:
‑ Não te larga mais. Tem‑se de o arrancar...
- O que vamos fazer? Aquele monstro barra‑nos o caminho. Estorvada pelo bidão, que mantenho ainda desajeitadamente com uma mão em cima da cabeça, e o balde na outra mão, fito o animal, à espreita da sua reacção. A sua pele escamosa, matizada de castanho e de amarelo, torna‑se dourada, cor de areia, sob o nosso olhar. Dir‑se‑ia um enorme camaleão. Nunca vi um camaleão com um metro e meio de comprimento. Agita uma língua de serpente, e uma cauda arredondada em forma de chicote.
Atrás de nós, um grito. Uma rapariguinha que, como nós, se dirigia ao poço, acaba de vislumbrar o animal e sem hesitar apossa‑se de uma pedra, atira‑se a ele e põe‑se a bater‑lhe selvaticamente. É alucinante, o espectáculo da criança encarniçada contra aquele bicho de outro mundo. A pele é tão espessa que a pedra ressalta como que em borracha, o animal contorce‑se, procura morder enquanto cospe uma baba infecta. A miudinha recua, avança, finta, bate de novo, procurando os pontos vulneráveis, a garganta, os olhos, dando saltos de macaco para evitar o temível chicote da cauda. Assisto a um verdadeiro massacre. Ao cabo de vários minutos daquele combate singular, o bicho acaba por rolar, agonizante, sobre o flanco. Só então a criança larga a pedra, vigia a agonia do animal. Assim esperamos durante um quarto de hora que o bicho morra. Ao morrer, em convulsões, o dragão enrola a cauda numa última contorção, como que num gancho, e todo o seu corpo se esvai. Definha como se, lentamente, se lhe escapasse o ar do corpo, com a vida que o abandona.
De braço estendido, a miudinha pega‑lhe com a ponta de um pau, que enfia no gancho formado pela cauda, e baloiça‑o orgulhosamente. Pergunto‑lhe o que vai fazer com ele e ela responde‑me muito tranquilamente:
‑ Vou levá‑lo para casa, para comer.
Ri‑se com todos os seus dentes brancos, baloiçando o monstro debaixo do meu nariz, e com mais vontade se ri perante o meu ar horrorizado. Haola ri‑se com ela, fazendo troça de mim. Depois, a miudinha atira o animal para longe, ajusta o balde à cabeça e vai‑se tranquilamente, deixando‑me em estado de choque.
Sou realmente de um outro mundo, aqui. Sozinha, nunca teria conseguido matar aquele bicho. Pernas para que vos quero. Ele ter‑me‑ia perseguido, mordido, talvez devorado. Pretendo saber se há muitos naquela região. Haola diz:
‑Alguns...
Aquele dragão, sabê‑lo‑ei mais tarde, é um monitor, tem efectivamente a capacidade de correr terrivelmente depressa nas suas patas robustas, servindo‑lhe a cauda de arma defensiva. Vive em tocas escavadas no solo e não é carnívoro.
Por entre as serpentes, os escorpiões, os lobos, as hienas e os macacos, cada surtida é uma aventura. E como, por estes dias, a água continua sem cair, somos obrigadas a fazer quilómetros para encontrar um poço que não esteja seco. Dele tiramos lama, no fundo do recipiente, e a única solução, para beber, é coar essa lama e contentarmo‑nos com o líquido salobro que fica.
Reparei num antigo poço ao fundo do jardim, por detrás do cemitério, mas que ninguém utiliza para tirar água para beber. Desde que Ward me proibiu de usar água potável do reservatório da casa, vou lá fazer a minha pequena barrela. O poço do cemitério está sempre cheio com uma água salobra e quente e, com um pouco de detergente em pó, consigo lavar a roupa interior quase como deve ser.
Gosto daquele sitio, pois é pouco frequentado. Uma vez a roupa enxaguada, estendo‑a sobre as pedras. Leva pouco tempo a secar, cerca de dez minutos, um quarto de hora... E entretanto estou sozinha. Longe dos outros, de Ward, que me despreza, de Abdul Khada, que odeio tão violentamente que às vezes sonho ter um punhal como o seu e fazer uso dele.
Este cemitério é diferente dos nossos. Não há pedras tumulares. Quando se enterra alguém, faz‑se um buraco na terra, torna‑se a tapá‑lo e deita‑se um pouco de cimento por cima, nele inscrevendo o nome do morto antes que seque. É frequentado por sapos e por montes de insectos.
Eu para ali fico, sentada à sombra da porta, a ver a água evaporar‑se das minhas roupas. Não tenho grande coisa, alguma roupa interior, duas saias e T‑shirts.
Partia para seis semanas de férias apenas... Já se passaram quatro semanas, eu estou "casada" há um mês, a Nadia há quinze dias... isso parece ao mesmo tempo muito e ridiculamente pouco. Vivi tantas coisas, em quatro semanas... sofri tantas humilhações.
Logo nos primeiros dias, a Nadia disse‑me que o seu sogro, Gowad, queria que ela se vestisse "convenientemente". Usa desde então um lenço na cabeça e uma túnica sarapintada, por cima de umas calças que lhe chegam aos tornozelos. Isso não a impede de ser bonita, os seus olhos pretos são ainda maiores na cara emagrecida, triangular. Parece uma jovem princesa hindú. Explicou‑me, com resignação, que aquele género de roupa acabava por ser prático para se proteger dos insectos. Os mosquitos deixam de ter hipótese de nos atacar as pernas e os braços. Quanto a mim, tive de aceitar na semana passada que uma mulher da aldeia me tirasse as medidas para me fazer roupas, já que rejeitei as de Ward e que nenhuma mulher da casa tem a minha estatura. A costureira cumpriu, pois, a sua tarefa na presença de Abdul Khada, que não queria abandonar a divisão. Fiquei vestida e ela teve de fazer uma aproximação. Terei três túnicas e alguns pares de calças. E, como toda a gente, usarei chinelas de plástico, que deixam os calcanhares e os dedos dos pés à mostra.
Uma vez hoje lavadas e secas, pela última vez, as minhas roupas ocidentais, vou arrumá‑las na minha maleta. Tudo o que me resta de Inglaterra. Os meus romances de amor, as Raízes, as minhas cassetes de reggae e de rock. A minha escova de dentes e um resto de sabonete.
Tomar um banho, um banho autêntico, é um sonho impossível. Até mesmo um duche. Mas ontem transgredi a regra que pretende que as mulheres nunca se lavam por inteiro e não tomam banho. Estava no lavadouro com a pequena Shiffa, que tem oito anos e assume todas as tarefas de uma adulta. Por certo a casarão, também a ela, dentro em breve... Apossou‑se de mim um desejo súbito, como que uma sede imensa, de encharcar o corpo, de o lavar de todas as suas máculas.
Com as minhas escassas palavras de árabe, dei a entender a Shiffa que ia entrar na água, e que ela tinha de vigiar as redondezas. Algo amedrontada, aceitou. Desci os escassos degraus de cimento do lavadouro e entrei na água com as minhas roupas. Estava fria. Deixei‑me deslizar, de costas. Com a cara alguns centímetros abaixo da superfície, os olhos abertos através daquele espelho líquido, podia ver a silhueta de Shiffa um pouco desfocada e imóvel. Contendo o fôlego, assim fiquei até à exaustão dos pulmões, na frescura e na obscuridade silenciosa do lavadouro. Desejava não sair nunca dali. Flutuar assim até à eternidade. Ao voltar à superfície, vi Shiffa apavorada. Imaginara que eu me tinha afogado e fazia gestos desesperados apontando para o carreiro. Julgara ter ouvido alguém aproximar‑se.
Tornei a subir, contrariada, os degraus do lavadouro e voltámos para casa. Escorria ainda ao chegarmos e Ward inquiriu Shiffa, que contou tudo. Eu prevaricara. E para me fazer medo Ward disse que no lavadouro se passeavam serpentes venenosas. Isso era‑me perfeitamente indiferente. A alegria daquele banho furtivo, associada à certeza de a ter escandalizado, era mais importante que o medo retrospectivo de uma mordedura de cobra.
Secas as minhas roupas, volto para casa, para o meu quarto, outro lugar de refúgio solitário quando Abdulíati não se encontra. Através das janelinhas, contemplo os macacos que roubam milho do campo por detrás da casa. Se Abdul Khada ou Mohammed os vissem, sacariam das espingardas. A estação é de tal modo seca que os macacos estão esfaimados e tornam‑se mais temerários e mais agressivos ainda. Vêm até aos poços e só fogem à aproximação de alguém, guinchando de insatisfação. Os homens e os macacos parecem disputar oterritório, o alimento e a água.
No outro dia, ia eu à loja, à aldeia, buscar sal e lenha com Tamanay, havia‑os por todo o lado, a pilhar, a retalhar o milho. Não estava tranquila, pois eram inúmeros e disseram‑me que por vezes atacavam as mulheres. A pequena Tamanay não parecia ter medo, pois ao chegar ao cimo da colina pôs‑se a cantar uma canção, para troçar deles.
‑ Tu, macaco... tu, macaco...
Eu não percebia a sequência da sua cantilena em árabe, mas os macacos estavam fulos. Um deles, o maior, assemelhava‑se a um babuíno e devia ser o chefe do grupo. Os outros eram mais pequenos. Algumas mães traziam as crias nos braços. Enervado pela canção, um bando de pequenos macacos de cauda comprida, cuja raça ignoro, subiram para as árvores e puseram‑se a atirar‑nos pedras. Nós fugimos, a rir, até à aldeia.
No regresso, o macaco grande estava instalado no caminho e mostrava‑nos os dentes. Quando nos viu correr de novo, recomeçou a comer o seu milho tranquilamente, contente por nos ter amedrontado. Havia na realidade de que ter medo, é quase tão grande como um gorila. Por vezes cruzo‑me com ele no caminho, a comer uma planta ou uma espiga. Não se mexe, olha‑me fixamente e sou eu que tenho de me afastar, esforçando‑me por não lhe mostrar o meu pavor.
As pessoas da aldeia não gostam deles e fazem‑lhes uma guerra permanente, pois eles atacam o gado e destroem as colheitas. As mulheres repelem‑os à pedrada, os homens alvejam‑nos com as espingardas. Mas eles nunca se aproximam das casas. O seu território são os milheirais.
Os macacos são livres. Também os homens são livres neste país, mas as mulheres não. A única que se queixou à minha frente foi proibida de visitar a casa de Abdul Khada. Chama‑se Hend e tem fisicamente um ar mais inglês do que eu. Cabelos loiros, olhos de um azul‑verde muito claro, uma pele delicada e pálida, um sorriso terno. Tem vinte anos e mora na aldeia. É mãe de seis raparigas... seis filhos aos vinte anos.
‑ Sou infeliz, aqui, quero fugir para a cidade, quero ser moderna ‑ disse‑me ela.
Tartamudeava um pouco de inglês. O seu marido fora como muitos outros trabalhar para a Arábia Saudita. Vivia na verdade sozinha com toda a sua criançada, sem ter conhecido a infância. Logo que soube que ela tinha ido lá a casa, Abdul Khada tornou‑se ameaçador.
‑ Proibo‑te de voltares a vê‑la e de lhe dirigires a palavra. Ela tem muito má reputação na aldeia. É uma mulher sem vergonha!
Eu achei‑a bonita e simpática e não me pareceu desavergonhada no que quer que fosse. Mas suponho que raparigas como Hend e eu representem uma ameaça para os homens da aldeia. Eles detestam a ideia de que possamos fomentar a discórdia entre as outras mulheres. Desde a infância que lhes enchem a cabeça com regras de comportamento por si estabelecidas e que há que não pôr em causa. Está calada e trabalha, está calada e casa‑te, está calada e faz filhos. A felicidade deriva deles, ao que parece.
Mesmo antes da minha chegada, casaram a sobrinha mais bonita de Abdul Khada com um dos seus primos.
‑ Se Abdullah tivesse uma prima como ela, com idade legal, tê‑la‑ia desposado em teu lugar! ‑ disse‑me Abdul Khada ao apresentar‑ma.
Se ao menos isso tivesse acontecido! Duvido, no entanto, que uma jovem se tivesse casado voluntariamente com Abdullah... Aqui, o pai teria pago muito mais caro para conseguir uma noiva para tal filho... sabendo toda a gente o fraco marido que ele seria. Sempre doente, medroso, caprichoso.
Há uma coisa de que estou certa: à parte Nadia e eu, nenhuma das raparigas da aldeia foi forçada ao casamento. Se uma rapariga não gosta de um rapaz, tem o direito de recusar e de escolher outro. Isso está na lei deles, no Alcorão. "Então, porquê nós?"
"Porque fomos nós arrastadas, e forçadas?" Aquela tal rapariga, a Hend, contou‑me que no dia do seu casamento lhe perguntaram por três vezes, durante a cerimónia, se desejava perseverar. Tal como a maior parte das mulheres, contentou‑se em aceitar a vontade da família. Mas poderia divorciar‑se.
Quer dizer que as mulheres têm alguns direitos, ainda assim. "Porque é que nós, não? Porque é que não tivemos cerimónia oficial? Onde estão os papéis? Quem pode garantir que estamos realmente casadas com aqueles dois garotos?"
Na realidade, estou agora certa de que não somos vitimas de um pai árabe e religioso que quis que as suas filhas se integrassem no seu país. Vender, embolsar duas mil libras, eis o que ele quis. E como, aqui, Abdul Khada teria tido dificuldade em casar o enfezado do filho, aproveitou a ocasião. A ocasião era eu. E a Nadia teve a mesma sorte. Isso podia também ter sido intermutável, porque não? Eles enojam‑me. Preferia ser macaco a ser mulher, neste país.
À hora do último carregamento de água do dia, Abdul Khada informa‑me da sua nova decisão:
‑ Tenho um restaurante em Hays. Acabo de o comprar. Tenho de ir para lá trabalhar com o Abdullah e a Ward, lá havemos de ganhar dinheiro.
Durante alguns segundos, sou invadida por uma enorme esperança. Ele vai‑se embora, leva o meu "marido" e a minha "sogra". Sozinha com a Bakela, poderei ver a Nadia com maior frequência e talvez...
‑ Tu vens connosco.
‑ Ainda não! Não, não quero deixar a minha irmã. Quero ficar com ela.
‑ Isso não és tu que decides. Fazes aquilo que eu digo.
‑ Posso ir ver a minha irmã hoje?
‑ Se queres. Eu vou contigo.
No caminho para Ashube, supliquei e tornei a suplicar, dizendo que a Nadia era muito nova, que era fraca, que precisava de mim. E logo que soube o que ele projectava, a Nadia suplicou igualmente a Abdul Khada que me deixasse com ela na aldeia, em casa de Gowad.
‑ Isso é impossível. É inútil chorar, vocês poderão visitar‑se, não é assim tão longe.
Mentia descaradamente. Hays é demasiado longe para que pudéssemos fazer a viagem a pé. E nunca conseguiríamos que ele ou Gowad nos acompanhassem.
Juntas podíamos apoiar‑nos, falar da mamã, contemplar as fotografias que eu trouxera comigo, o postal do meu aniversário, enquanto esperávamos... Sozinhas, o que vai ser da Nadia... Temo que a influenciem, que a estupidifiquem por completo. Ela não tem a minha força física, nem o meu ódio, aquele ódio que me consolida, dia após dia,
e que me faz aguentar‑me de pé diante daquele homem tacanho.
‑ Partimos amanhã.
Um dia, há‑de pagar. Não serei escrava para sempre.
Nessa noite não dormi, vio Sol nascer através dajanelinha, estendida em cima do banco, virando‑me e revirando‑me sobre aquela maldita enxerga demasiado fina, chorando na almofada que me serve de travesseiro. Cinco semanas já daquele inferno.
Abdullah dormiu sozinho na cama, depois de me ter importunado durante dez minutos. Não sei se conseguirá um dia fazer um filho. Nada sei das relações sexuais normais. Como é que esta comédia poderia culminar num filho? Deus queira que não... ou que sim, já não sei. Se esse for o preço a pagar para regressar a Inglaterra, se eu puder confiar em Abdul Khada, que mo prometeu...
Chegou a alvorada, o automóvel também. Um dos parentes de Abdul Khada vem buscar‑nos com um Land Rover, para nos levar para Hays. A viagem deprime‑me ainda mais do que a noite de insónia. A paisagem torna‑se cada vez mais árida, triste. Atravessamos extensões pedregosas, na direcção do litoral e dos portos no Mar Vermelho. Mas não iremos até lá.
Hays é uma pequena cidade que Abdul Khada diz ser muito bonita, fala‑me de cerâmicas, de gente rica e de belas casas. A cidade velha, disseram‑me que histórica, a um quilómetro do nosso ponto de chegada, talvez seja bonita, isso não me interessa e por certo a não visitarei, pois o restaurante de Abdul Khada está situado à beira da estrada principal que liga os portos do Mar Vermelho a Sanaa, num bairro recentemente construído.
O restaurante é grande, situado no meio de prédios modernos e de outros restaurantes, todos iguais. Brancos por fora e mobilados com mesas e cadeiras baratas. Esta cidade nova está em eterna construção e as ruas são uma eterna nuvem de poeira. O sítio é uma mescla de tradição e modernidade. Na estrada vêem‑se grandes camiões, pejados de mercadorias, cruzando‑se com filas de camelos que transportam, também eles, mercadorias, sobretudo sacos de milho... Rebanhos de cabras andam a par com os ciclistas. Parece que todas as semanas decorre um grande mercado nas imediações e que existe também um centro de compra de qat muito importante.
Eis‑nos, pois, no estabelecimento de Abdul Khada. No terceiro andar, alguns quartos mais espaçosos do que o de Hockail, de paredes devidamente cimentadas. Há água corrente, um autêntico luxo, e, luxo supremo, electricidade. Na aldeia, utilizamos candeeiros a óleo, a partir do pôr do Sol, e temos de os levar connosco para todo o lado, da cozinha para os quartos, do estábulo para o cubículo, respirando um fumo acre e nauseabundo. Aqui, as casas de banho continuam a ser igualmente sujas. Um buraco e água. Em contrapartida, existe um duche. Por cima dos quartos há um terraço, onde nos podemos instalar.
Abdul Khada mostra‑me orgulhosamente o seu jardim, rodeado por muros tão altos que não se vê nada ao redor, à parte um bocado de céu. Nele cultiva os seus próprios legumes, batatas e tomates, e gasta uma enorme quantidade de água para os conseguir.
Faz mais calor do que na aldeia e logo à chegada travo conhecimento com um novo inimigo. Fora as moscas e mosquitos, que pululam ainda mais do que nos altos planaltos, somos invadidos pelas formigas vermelhas. A única forma de lhes escapar é sentarmo‑nos numa cadeira com os pés no ar.
Este calor tórrido, todos estes insectos me fazem apreciar, por minha vez, as roupas árabes. As calças protegem das picadas. Começo a cobrir os cabelos com um lenço e a usar as compridas túnicas por cima das calças. Na aparência, tornei‑me uma mulher iemenita. E uma mulher que trabalha.
Sou destacada para a cozinha, juntamente com Ward. Esta cozinha é na realidade uma espécie de corredor comprido nas traseiras do restaurante. Abdul Khada e Abdullah servem os clientes na sala da frente; nós ficamos fechadas naquele sítio estreito em que durante o dia se sufoca de calor. Nem mesmo as portas abertas para o jardim produzem qualquer frescor.
Esta coabitação forçada no trabalho, por entre os fogões, a lavagem da loiça e a lida da casa tornam‑nos cada vez mais agressivas uma com a outra. Eu detesto‑a, detesto este sítio, este calor, detesto estar aqui fechada a alimentar homens que nem sequer vemos. Ao menor pretexto, e mesmo sem pretexto algum, a guerra instala‑se entre aquela mulher e eu. Ela transpira, é gorda, feia, com aqueles olhinhos mesquinhos. Quer dominar‑me.
No outro dia, tirou do congelador um frango hirto de gelo e atirou‑mo para debaixo do nariz, ordenando‑me que o cortasse e o pusesse a cozer. Era estúpido tentar cortar um frango congelado! Atirei‑lho à cara, gritando:
- Não!
Defrontámo‑nos durante alguns segundos, depois nada mais. Ela não se atreve a bater‑me. Ignoramo‑nos a maior parte do tempo, o que não é fácil num local tão reduzido.
Continua a ser‑me difícil comunicar, não falo suficientemente bem o árabe. De resto, não tenho ninguém com quem falar. Ward não me dirige a palavra senão para malvadezas, Abdullah não tenta conversar e eu não me queixo e o Abdul Khada trata da sala e já quase não o vejo. Tenho de aprender árabe se quiser desenvencilhar‑me. Falar é uma necessidade, ou enlouquecerei de solidão. Solidão no jardim a contemplar os tomates e os muros altos. Solidão no meu quarto a ouvir as mesmas e sempre eternas cassetes e a reler os mesmos livros ingleses.
Uma noite peço a Abdul Khada para me comprar um alfabeto, livros para crianças, com que aprender a ler e a escrever. Pensava que ele ia recusar, pois na aldeia as mulheres não aprendem nada. Nem a ler nem a escrever. Os homens temem demasiado que, lendo, elas descubram a sua condição de verdadeira escravatura e comecem a pô‑la em questão. A escola da aldeia é unicamente reservada aos rapazes. Frequentam‑na muito novos e podem depois arranjar trabalho na cidade ou no estrangeiro. Mas se uma mulher quer ir para a cidade ou para o estrangeiro... isso é outra história. Só pode contar com a boa vontade do marido, que nunca, ou raramente, dela dá mostras.
Para minha grande surpresa, Abdul Khada não se recusa a ajudar‑me. Dá‑me um alfabeto, e eu inicio a minha aprendizagem a partir daí, sozinha, trabalhando em geral à noite, pois os dias são bem preenchidos por uma rotina que nunca muda.
Todas as manhãs Ward põe ao lume uma grande chaleira de água para o chá dos clientes, enquanto eu faço a lida. Abdul Khada põe ovos e feijão a cozer com pão, que foi comprar algures à cidade; na frente do restaurante, um jovem faz chapatis numa enorme frigideira; é empregado de Abdul Khada e recebe directamente o dinheiro dos clientes, que lhe entrega ao fim do dia. Ele mesmo é pago ao fim de cada semana.
à hora do almoço, põe a cozer a carne, os legumes e o arroz. à noite, entre as seis e as onze horas, é servida uma refeição como a do pequeno‑almoço. A Ward e eu encontramo‑nos todo o dia na cozinha, para as tarefas mais humildes, lavar loiça, limpar legumes, limpeza, jardim. Abdul Khada está atrás do balcão, à conversa com os clientes; à noite, os homens jogam às cartas, bebem chá ou café.
Abdullah ajuda também na cozinha, mas à noite vai ter com o pai à sala e Ward e eu temos de nos manter fora da vista dos homens, com a chaleira de água, a panela de arroz e a loiça para lavar como único horizonte.
Vou‑me deitar antes do encerramento, logo que não haja nada para fazer. E na verdade nada mais tenho que fazer... Nada, para além de ficar sentada, a pensar. A pensar na liberdade. à noite, em Birmingham, quando, nas ruas iluminadas, junto às montras, conseguia fugir à vigilância paterna, ia comprar o meu maço de cigarros proibido. Comprá‑lo eu mesma e não pedinchá‑lo ao senhor daqui. Olhava para os expositores dos sapatos, para as mini‑saias, para os perfumes. O prazer de entrar livremente numa loja e perguntar o preço de um lápis de maquilhagem. O prazer de folhear os romances de amor, na pilha do vendedor de jornais. O prazer de encontrar Mackie no centro dos jovens, no sábado à noite, e de dançar disco. Mackie, a minha paixão. Mackie e o seu boné impertinente, plantado em cima dos cabelos espessos. Mackie apenas um pouco maior do que eu, exactamente da minha idade, exactamente ao meu gosto. Tão belo, o Mackie. Não vi rapaz mais bonito que ele em Inglaterra. Aqui, todos se confundem no meu ódio.
A única companhia é a das mulheres da vizinhança, que levam a mesma vida monótona. Os únicos temas de conversa são os rumores e os mexericos. As mulheres aborrecem‑se de tal forma que por todo o país circulam histórias fantásticas, assim espalhadas, assim transformadas. Determinada história chegou a determinado local de uma cidade e de mentira em mentira, de desinformação em invenção, é repetida. O mexerico é um vírus que contamina toda sociedade feminina.
Após seis meses daquela vida estúpida, falo árabe quase correctamente. Já seis meses. Em Inglaterra, o Natal está próximo. Contornei o dia de Natal no calendário, referência inútil, festa sem Zana. Seis meses da minha vida perdida naquele calendário de prisioneira.
Não tenho notícias da Nadia. É‑me impossível escrever‑lhe e a cada um dos meus pedidos, recebo a mesma resposta.
- Quando é que vamos vê‑la? Quando é que me levas?
‑ Em breve.
à parte o Ramadão, aqui o calendário não serve para nada. Estamos em segunda‑feira ou em sábado? O que importa, um dia é igual ao outro.
Da janela do meu quarto apenas vejo um muro de tijolo, o mesmo que do jardim. Nada vejo do exterior e ninguém me vê a mim. Os homens podem sair, ir à cidade, conduzir um automóvel, viajar, as mulheres não vão a parte nenhuma e não estão autorizadas a nada.
A interminável rotina destes dias leva‑me lentamente quase à loucura. A minha única distracção éo pequeno gravador e as cassetes que trouxe de Inglaterra. Tive sorte, pois Abdul Khada não pára de repetir que não devo possuir nada que me lembre o meu país.
‑ Tens de esquecer como vivem lá. Tens de te habituar a isto aqui.
Como se fosse possível esquecer, cortar as minhas raízes. A minha vida é talvez curta, tenho apenas dezasseis anos, mas ele não poderá apagar quinze anos vividos em Inglaterra.
Um belo dia, Abdul Khada chega ao meu quarto e põe‑se a revistar‑me o saco.
‑ O que estás tu a fazer? O que é que procuras?
‑ Isto!
E brande as escassas fotografias da minha família, da mamã, das minhas amigas, que continuam comigo. à noite, acontece‑me frequentemente vê‑las quando estou sozinha. Precipito‑me sobre ele, para lhas arrancar.
‑ São minhas, devolve‑mas!
Ele levanta os braços para as manter fora do meu alcance.
‑ Não! Acabou‑se. Elas deixam‑te triste. Não podes ter qualquer recordação da tua vida passada. A tua família, agora, somos nós!
Colo‑me a ele, para lhe agarrar o braço e tentar recuperar o meu bem, as minhas preciosas recordações, mas ele não as larga, pelo contrário, rasga‑mas por cima da cabeça, raivosamente, depois estende‑me os pedaços.
‑ Agora, vai deitá‑los no lume.
‑ Por favor, não... não me obrigues... suplico‑te...
‑ Deita‑os no lume!
E avança para me bater. Então, corro para a cozinha e deito os pedacinhos de papel plastificado no lume. Nada mais resta que pequenas rodilhas de cinza... absolutamente mais nada, para além das brasas.
Sinto‑me vazia, despojada para além do suportável. Terei de reencontrar as caras mentalmente e por vezes, perco‑as, não voltam mais. Fecho os olhos até à dor, chamo pela mamã... por Ashia... por Mo... por Lynette... por Mackie também. E, como que por milagre, eles voltam.
Durante dias e dias, espio Abdul Khada, convencida de que ele ia destruir também as minhas cassetes de música e os meus livros. Não o fez.
às vezes ocorrem‑me ideias descabidas. Talvez haja na sala do restaurante clientes estrangeiros, turistas americanos ou alemães. Talvez pudesse falar com eles... Mas nós estamos presas na cozinha, mundo de calor, de fumarada, de moscas e mosquitos, devoradas pelas formigas encamadas.
A cidade fica longe e não tenho sequer o desejo de fugir para lá. Aquela cidade é como o resto, nenhures. E fugir não me levaria a parte alguma, sem a Nadia, que não tenho o direito de abandonar.
Neste universo sem esperança, monótono de morte, Abdul Khada propõe‑me um dia ir ver o mar.
‑ Levo‑vos à praia durante um dia.
Custa‑me a acreditar. Deve ser um novo convite seu, fazer a proposta, esperar que eu diga que sim e bater‑me por me ter atrevido a dizê‑lo. Não sei porque não é esse o caso. Ward não queria que fôssemos, mas Abdul Khada insistiu e partimos de manhã muito cedo, pois aqui a temperatura atinge cinquenta graus a meio do dia.
Vou finalmente, de táxi, entre Abdul Khada, Ward e Abdullah, ver esse mar de que tantas vezes ouvi falar. A areia fina e as palmeiras do meu pai...
Atravessamos um deserto absoluto. A pista é bordejada por postes telefónicos, nem vivalma no horizonte. Depois aproximamo‑nos de uma estrada asfaltada, moderna, que leva à faixa costeira de Tihama, tradução: as terras quentes. Quilómetros de planura. Quilómetros
de areia a toda a volta, a perder de vista. Ao aproximarmo‑nos do mar, algumas casas de pedra
abandonadas e, de quando em quando, um pescador ou dois, esqueléticos, curtidos pelo sol e pelo mar, uma palmeira fantasma, um camelo... e a praia. Bela, longa, de areia fina e dourada, semeada de maravilhosas conchas nacaradas, ocasionalmente sombreada por palmeiras. Enfim
o postal descrito pelo meu pai.
Parece que nunca ninguém aqui veio, antes de nós. Nem uma pegada; ao longe, alguns barcos de pescadores, imóveis, como se ali estivessem desde o dealbar dos tempos. Desço do táxi, maravilhada, o vento fustiga a areia, pica os olhos, solta os cabelos.
Queres tomar banho?
Não acredito no que oiço. Abdul Khada a propor à sua "nora" um banho no mar! Volto a ter medo de dizer que sim, no caso de, como é seu hábito, procurar pôr‑me à prova para em seguida me bater. Tomar banho é, normalmente, impúdico.
‑ Se quiseres tomar banho, podes ir com as roupas.
Trago uma túnica comprida, por cima de umas calças, e um lenço nos cabelos.
- Vai lá, não há ninguém.
Não foi preciso dizer‑mo duas vezes. Tiro as sandálias e dirijo‑me para a água. Entro nela lentamente, os tornozelos, as pernas, os joelhos, as coxas, o ventre... deixo aquela alegria invadir‑me suavemente, a frescura beijar a minha pele. Em breve estou longe o bastante para nadar, com uma certa dificuldade, as roupas de algodão boiando à minha volta e tolhendo‑me os movimentos. O lenço solta‑se, os meus cabelos estendem‑se livremente na água morna e suja. Em Inglaterra, eu era boa nadadora e na escola ganhara mesmo uma medalha de bronze. Adorava a água.
Este banho é único, deslocado do tempo. Dele me lembrarei por muito tempo e com frequência, pois nunca mais se há‑de repetir.
Debaixo de água, dentro de água, de olhos abertos, de olhos piscando à superfície, ao brilho do sol. Um fabuloso espaço de liberdade. A água do Mar Vermelho é verde! Quando se mergulha não se vê nada, areia em suspensão, minúsculas algas. Eu estou no mar da Bíblia e dos profetas. Nado, nado, fitando o horizonte distante, poderia nadar assim até à costa da Etiópia. Disse Abdul Khada que ela fica apenas a seis horas de barco. Poderia evadir‑me para lá, para o horizonte, abordar as ilhas llanish. Parece que se vêem à noite, ao pôr do Sol, com tempo limpo.
- Não te afastes tanto... ‑ grita ao longe a voz de Abdul Khada.
Como se tivesse adivinhado os meus pensamentos. Patinha à borda de água, Abdullah também. Não seriam capazes de ir ter comigo. Haveria de deslizar tão depressa como aqueles peixes compridos e brilhantes, quase azuis, autênticas flechas prateadas, que se lançam entre duas águas para o largo.
‑ Não te afastes tanto, há tubarões!
É verdade, há tubarões, e medusas, e raias venenosas. Vi O Tubarão em Inglaterra; a ideia de um tubarão surgindo de súbito atrás de mim e perseguindo‑me com a sua barbatana pontiaguda devolve‑me à razão. Regresso à beira‑mar, a contragosto. A temperatura está já de tal forma elevada que as minhas roupas secam em escassos minutos, enquanto caminho pela praia. Vista de perto, ela é menos magnífica do que à primeira vista parecera. Latas de conserva, garrafas de Coca‑Cola, e sobretudo latas de cerveja branca. Os homens devem vir para aqui instalar‑se à noite para beberem o álcool que a lei lhes proibe.
Sento‑me à sombra de uma palmeira e olho, encho os olhos com aquele mar simbólico. Lá ao fundo, a liberdade. Lá ao fundo, os barcos de madeira dos pescadores. Se eu pudesse caminhar sobre as águas...
A minha felicidade durou uma hora, na areia, a sonhar com Inglaterra, para lá dos continentes. Tinha calor, sal na boca, lágrimas salgadas nos olhos. Era uma estátua de areia e de água.
Temos de voltar. De nos instalar no banco de napa escaldante do táxi, entre Abdul Khada e Abdullah, os meus dois carcereiros.
Acordo a arder de febre com uma atroz dor de estômago. Não me consigo levantar, as minhas pernas vacilam, a cabeça rodopia‑me, apossou‑se de mim uma enorme fraqueza, abato‑me em cima da cama.
Abdul Khada olha‑me com desconfiança.
‑ É apenas o calor.
O dia passa numa névoa febril, depois outro, e só passados dois dias Abdul Khada se mostra preocupado. Estou realmente doente, incapaz de me levantar, incapaz de ficar na mesma posição, a dor não me larga, a febre também não.
Tenho saudades da mamã, que sempre me tratou quando eu estava doente, que sempre esteve presente com uma chávena de chá, um tabuleiro, revistas. Instalava o meu rádio em cima do travesseiro, ligava a televisão, os amigos vinham ver‑me. Tinha treze anos e varicela, vergonha das minhas borbulhas, mas com a mamã e toda a família era um suave prazer, uma alegre indolência, estar doente.
Tremo de febre e não me consigo alimentar sozinha. Vem‑me à ideia que vou morrer. É isso, vou morrer. Alegra‑me essa ideia de morte, serei livre, desaparecerei do Iémen para sempre. Para quê viver aqui, isto não é vida, é uma morte lenta.
Devo ter falado em morte, pois Abdul Khada parece aterrorizado e algumas horas passadas traz um médico de Hays. Um sudanês, que fala inglês.
‑ É malária.
Dá‑me uma injecção, enquanto eu tento compreender. "A malária é uma doença mortal?" Deixa alguns medicamentos e diz que voltará no dia seguinte. É um grande bonacheirão, extremamente simpático e atencioso, mas Abdul Khada não nos deixa sozinhos um minuto, com medo de que eu fale com ele em segredo.
Nos três dias seguintes volta a dar‑me uma injecção de manhã e outra à tarde. E pouco a pouco começo a sentir‑me com forças suficientes para me levantar, depois para me alimentar e regressar ao trabalho. Mas algo mudou no meu corpo. Nunca me sinto realmente em forma, sempre frouxa; por duas ocasiões, um acesso de febre atira‑me de novo para a cama. Como o médico já ali não está, desenvencilho‑me com a ajuda das mulheres da vizinhança. O único remédio que elas conhecem para a malária éo leite de camela. É difícil de arranjar. Da primeira vez achei‑lhe o gosto estranho, mas acabei por me habituar.
Embora meia cá, meia lá, resisto. à malária, aos mosquitos, às moscas, ao calor infernal, a Abdullah que todas as noites regressa. Fecho os olhos, penso no meu noivo secreto, lá longe, em Inglaterra. Eu não existo, Abdullah não existe. Aquilo é um pesadelo que não dura muito. Basta cerrar os dentes. Basta falar connosco como se fôssemos outro. Basta dizer: "ela" há‑de aguentar. "Ela" já passou por outras. "Ela" é forte. Um dia, "ela" ir‑se‑á embora daqui. Trato‑me por "ela". Ordeno‑"lhe" que seja mais forte do que eu, é "ela" quem suporta aquele garoto na sua cama. Não eu. E "ela" que violam. É "ela" que eu tenho de apoiar, de amar, de consolar.
"Ela" está a dar em doida.
Por vezes, esmago uma lagartixa ao alcance da sandália. Esmago‑a com voluptuosa malvadez. É Abdul Khada que esmago.
De quinze em quinze dias, Mohammed, o filho mais velho de Abdul Khada, vem de Hockail visitar os seus pais. Na angústia moral e na solidão em que aqui me encontro, é um acontecimento poder falar com mais alguém, mesmo que por pouco tempo. O essencial da nossa conversa incide na minha obstinação em ir ter com a Nadia.
‑ Tu podes falar com teu pai, Mohammed, ele há‑de dar‑te ouvidos, diz‑lhe para me deixar voltar para a aldeia.
‑ Eu não posso fazer nada. Tu sabe‑lo bem.
‑ Imploro‑te... Nem sequer sei como ela está.
Poderia repetir o meu pedido cem vezes, que cem vezes teria a mesma resposta. Ele encolhe os ombros, como se aquilo não importasse. Como se eu não tivesse razão de me queixar. Para ele, é tudo normal. Não me quer mal, com excepção de no primeiro dia se ter mostrado disposto a atar‑me à cama, para permitir ao irmão mais novo violar‑me. Para eles, a única coisa anormal é a resistência de uma mulher à sua vontade.
Uma tarde, estava eu sentada lá fora, no jardim, a olhar para o muro fronteiro, oiço a voz de Abdul Khada gritar:
‑ Nadia
Na altura não me atrevo a acreditar, mas um ruído de passos faz‑me estremecer. Depois, de novo a voz de Abdul Khada:
‑ Zana, a tua irmã está aqui!
A emoção embarga‑me a garganta à vista da minha irmã transformada. Ela dissera‑me que a vestiam assim, mas vê‑la surgir em traje tradicional provoca em mim um efeito estranho. Deve sentir a mesma coisa no que me diz respeito. É ela, sou eu, transformadas em mulheres árabes, e olhamo‑nos por um instante, quase como desconhecidas. Estou tão feliz por vê‑la que quase choraria. Deixam‑nos a sós durante o dia, no meu quarto. As perguntas e as respostas fluem.
‑ Recebeste notícias da mamã?
‑ Não, e tu também não?
‑ O Abdul Khada rasgou todas as minhas fotografias...
‑ Eu tenho mais na aldeia, dentro da mala.
‑ Estive doente, com malária.
‑ Olha para a minha mão...
Tem a mão coberta de cicatrizes. Nadia tem a pele sensível, fina, e a ferida da picada de mosquito demasiado coçada transformou‑se numa cicatriz indelével. Mas há pior, marcas de queimaduras.
‑ O Gowad obrigou‑me a pôr a mão no lume por causa dos chapatis. Queimei a mão toda, já não tinha pele.
É‑lhe difícil aguentar a dureza das tarefas que nos são impostas. Eu sabia‑o perfeitamente. O transporte quotidiano de água, por exemplo, das seis horas da manhã até à noite. A esgotante caminhada para o poço, o bidão de vinte ou trinta litros à cabeça.
Na aldeia, há meses que não chove. E de dia o calor é infernal. O mais grave conta‑mo ela, baixando a cabeça.
‑ Uma vez... recusei‑me a ir para a cama com o Samir e o Gowad bateu‑me. Espancou‑me aos pontapés nas costelas. A Salama ouviu‑me gritar e veio em meu auxílio.
A minha maninha não gosta nada de evocar a humilhação diária de partilhar a cama com aquele garoto de treze anos, muito mais forte e mais adulto do que Abdullah. Sei que ela sofreu fisicamente com a violação e continua a sofrer. A minha própria experiência permite‑me imaginar aquilo a que ela se sujeita. As mãos tremem‑me de vontade de estrangular aqueles dois homens. Gowad, Abdul Khada.
Chorar, falar, e chorar de novo. Não paramos, até à noite. Eles fizeram da minha irmã uma escrava, o seu corpo pertence‑lhes. Isso põe‑me doida. Mais ainda do que por mim.
Enquanto ambas pensávamos em aproveitar alguns dias juntas, Gowad quer levá‑la de volta para a aldeia nessa mesma noite. Qual miudinha, Nadia suplica‑lhe que a deixe comigo alguns dias, mas ele é inabalável.
Vejo‑a partir, sem nada poder fazer para além de deixar emergir o ódio uma vez mais. O cúmulo é a reflexão que Abdul Khada se permite.
‑ Vês como a tua irmã está feliz? ‑ afirma ele com ar suficiente.
‑ Feliz? Chamas àquilo feliz? Como é que sabes que ela está feliz? Como é que podes saber o que ela sente?
Ele encolhe os ombros.
‑ Sei‑o, é tudo. Está bem melhor na aldeia sem ti. Está bem integrada na família.
‑ Ela não é nada feliz. Detesta‑vos tanto como eu! Percebes? Detestamos‑vos a todos! ‑ rujo eu como uma fera.
Que me bata, se quiser, é‑me perfeitamente indiferente. às vezes, cede perante o meu ódio e hoje é esse o caso. Mentiroso, cobarde, quer‑nos separar, apercebendo‑se muito bem da influência que eu tenho sobre a minha irmã. Teme‑me por isso. Pode sempre fingir que ela é feliz, sabe perfeitamente que isso é falso e que eu não acredito nele. Comigo, o seu sistema de intoxicação não funciona. Se Nadia se cala e se submete é porque não tem a sorte de ter a minha força nem este mau carácter que aqui me apareceu. Por causa deles.
Há meses que partimos e eu torturo‑me a pensar no silêncio da mamã. O meu pai deve ter‑lhe contado histórias, segundo as quais estaríamos em casa do avô, por exemplo, ou algures de férias, felizes... Mas, seja como for, esse género de mentiras não pode durar eternamente. Há muito que devíamos estar de volta a Inglaterra, o reinício da escola, o meu estágio de puericultura... Além disso, não tem notícias nossas, desde a cassete gravada na aldeia...
Todo este tempo que passa, inexorável, constitui uma monotonia estupidificante. Já não
tenho referências. De novo se passam semanas antes que uma notícia, vinda da aldeia, me dê a esperança de voltar a ver a minha irmã. Alguém previne Ward de que uma mulher, das suas
amigas de Hockail, foi atingida por um raio e morreu. Abdul Khada decide regressar para o enterro.
Tenho, pela primeira vez, de usar um véu na cara, durante a viagem, é uma ordem. Podem obrigar‑me a usar o que quer que seja, estou‑me nas tintas, desde que volte para lá, a partir do momento em que vou ver Nadia, mesmo que só por algumas horas.
No automóvel, velada, sentada à retaguarda, ao deixarmos a cidade. Os transeuntes não podem saber que eu sou inglesa. Uma mulher árabe entre as mulheres árabes. Se me pusesse a gritar: "Sou uma estrangeira", eles não acreditariam. Os Iemenitas transportam assim as suas mulheres, veladas, de um sítio para o outro, a seu belo‑prazer. Já ninguém me olharia, nessa noite, como no tempo em que usava a minha saia curta e os meus cabelos soltos. Tornei‑me invisível.
Chegamos já tarde e Ward vai directamente para a casa vizinha, levando‑me consigo. No caminho, oiço já as lamentações vindas de dentro de casa da morta. Entro a seguir a Ward para uma divisão cheia de mulheres em lágrimas. Aguardam que os homens acabem de cavar a sepultura. O corpo é depois envolvido num véu verde e eles levam‑no. Eles, os homens, não tendo as mulheres o direito de seguir o cortejo. Ficam a chorar no local, em casa da morta, enquanto a defunta é levada numa padiola de madeira. Olham de longe, rezam de longe, choram de longe.
Como ninguém me presta muita atenção, volto para casa de Abdul Khada e subo ao quarto, onde tudo começou. Curiosamente, sinto‑me quase feliz por estar ali de novo, após aqueles longos meses no restaurante de Hays. Já não há colchão nem cobertor em cima da cama e Bakela traz‑me com que dormir no banco, uma almofada, um cobertor. Redescubro o meu canto por baixo da janela, oiço os lobos uivarem... de novo. Nadia não está longe, irei vê‑la amanhã. Enquanto isso, ponho à prova os meus conhecimentos da língua com Bakela e as filhas. Shiffa cresceu, aproxima‑se dos nove anos, Tamanay continua igualmente tagarela. Agora posso comunicar, é a primeira vez que tenho uma verdadeira conversa com Bakela.
‑ Eu quero ficar aqui, Bakela. Aquilo, em Hays, é pavoroso. A Ward é má, não tenho ninguém com quem falar. Compreendes‑me?
‑ Sim... Mas é o Abdul Khada quem decide...
Desfaço‑me em lágrimas e ela também. Lamenta‑me, mas não sabe o que dizer.
‑ Aquilo é uma prisão.. Bakela. Não posso voltar para lá. Quero ficar aqui e ver a minha irmã...
‑ Se Deus quiser.
Na manhã do dia seguinte, a minha irmã chega a correr, ouviu dizer que estávamos cá para o enterro. Eis‑nos de novo juntas, no meu antigo quarto, com tanto para dizermos uma à outra. Falar inglês restitui‑nos a coragem. Ela conta‑me a tempestade assassina, as obrigações habituais. Acho‑a emagrecida, com a cara angulosa. Já só se lhe vêem os olhos.
Estamos em Janeiro de 1981. Lá longe, em Birmingham, é Inverno. A Ashia e a Tina vão à escola, o Mo também. Os nossos colegas, os nossos amigos, a piscina, o ténis, o campo de futebol, o centro de juventude, onde fazíamos tantas coisas, e o café, os peixes fritos, asjuke‑boxes, tudo nos volta à mente. E Mackie o meu boy‑friend... e o parque onde passeávamos de mãos dadas. Onde eu lia, empoleirada num baloiço, os fabulosos romances de amor que acabam sempre bem.
A noite vai alta e Nadia tem de regressar, para dormir em casa de Gowad. Abraçamo‑nos e dizemos até amanhã.
Mesmo Ward, a megera, está contente por ficar na aldeia. Não gosta mais do que eu daquele restaurante em Hays, onde mourejamos como umas escravas e abafamos de calor. Limita‑se a obedecer, ao ir para lá. Mas eu sei que gostaria de viver na aldeia, de tratar da sua velha mãe, fragilizada e que vive lá em baixo, numa casa isolada.
Quando nos preparamos para dormir, Abdul Khada muda de ideias. Quer voltar a partir imediatamente para Hays. Dou saltos de raiva.
‑ Mas tu tinhas dito que passávamos cá a noite!
‑ Amanhã é preciso reabrir o restaurante.
‑ Disseste à Nadia que ela podia voltar amanhã de manhã!
Estou desesperada por me separarem tão depressa da minha irmã. Há mais de seis meses que vivo em Hays, só nos vimos duas míseras vezes. Este tipo é um monstro de egoísmo. Não tem qualquer respeito nem mesmo pela própria esposa. Estamos cansadas da viagem, ela acaba de enterrar a sua amiga e ele está‑se nas tintas. Eu não gosto da Ward, mas esta noite iria ao ponto de assumir a sua defesa se isso pudesse servir para qualquer coisa.
‑ Quanto à Nadia, isso não é grave, a Bakela dir‑lhe‑á que te foste embora.
Ainda argumento, mas ele entra em cólera e pressinto que a tareia se aproxima. Se eu insistir, ele bate‑me. Não tenho forças para isso esta noite. Então, sem dizermos nada, nós, mulheres, voltamos a fazer as malas e tornamos a partir na noite escura, através do deserto. Imagino Nadia a subir a montanha amanhã de manhã, a correr para o meu antigo quarto e deparando com ele vazio. E Bakela a dizer‑lhe:
‑ A tua irmã? Voltou para o restaurante!
É como se a abandonasse pessoalmente.
Passadas algumas semanas, Mohammed, de visita ao restaurante, anuncia aos pais que acaba de combinar o casamento da sua filha Shiffa. A miudinha tem nove anos. Vai sofrer a mesma sorte que nós. É horrível.
Depois de Mohammed partir, interrogo Abdul Khada:
‑ O que é que se passa com a Shiffa?
‑ Vai‑se casar. Está muito contente...
"Tu o dizes..."
‑ O rapaz pertence a uma família rica que cuidará dela como deve ser. O pai tem uma boa posição na Arábia Saudita, tem muita gente a trabalhar para ele.
Imagino que isso seja um mal menor. Shiffa permanecerá na aldeia e poderá continuar acomportar‑se como uma criança. Não a obrigarão a usar o véu, parajá. Ela ainda não é núbil e, logicamente, o marido não lhe poderá tocar antes de ela ter os seus primeiros períodos. Se for correcto. Alguns homens nem sempre respeitam essa lei e violam as rapariguinhas na própria noite da cerimónia.
Bakela estava ao corrente daquele casamento quando conversámos na noite do enterro, no entanto não lhe fez qualquer alusão. Pergunto‑me o que sente ela à ideia de perder a filha mais velha, tão pequena ainda. Talvez absolutamente nada, talvez para ela isso seja normal. Abdul Khada está particularmente orgulhoso dessa aliança com pessoas abastadas.
‑ Eles têm uma grande casa em pleno centro da aldeia, são ricos. Ela ficará ainda melhor do que em nossa casa.
O importante para ele, imagino, é o preço que a família teve de pagar pelo corpo da pequena Shiffa. Mohammed deve ter negociado asperamente aquela venda. Em contrapartida, terá de oferecer as roupas da filha, uma espécie de enxoval, e jóias de ouro.
Também a mim Abdul Khada me ofereceu jóias de ouro. Em várias ocasiões. Não obteve qualquer reconhecimento da minha parte, nem um único obrigado. Não compreendeu, furioso por me ver rejeitar aquilo que ele considerava uma honra. Incapaz de compreender que não se compra uma pessoa com um pouco de ouro. Será que me tomava por uma mulher de harém? Por uma escrava a quem adornam antes do sacrifício? O meu desprezo vexava‑o. Agradava‑me francamente que ele fosse vexado enquanto homem. Reles vingança, mas são raras as oportunidades de manifestar a minha repulsa pelos seus costumes bárbaros e medievais.
Na cidade, ouvi umas mulheres falarem de casamento, embora de outra forma. O rapaz vai pedir‑lhes a mão, elas têm o direito de recusar ou de aceitar. Algumas casam‑se mesmo de branco, à europeia. Contaram‑me que até a viagem de núpcias ao estrangeiro entrara nos costumes.
As coisas mudam lentamente, mas não nas aldeias. Nas aldeias, o costume prevalece. Prova disso: Mohammed fizera, por assim dizer, um trato com o futuro esposo de Shiffa, que não lhe devia tocar antes dos catorze anos. Mas, no entanto, no dia seguinte à cerimónia havia sangue nos lençóis. Shiffa. A minúscula Shiffa, de nove anos, feita mulher. à força. Não voltarei a vê‑la. Ela viverá na aldeia, em casa do amo. Muito eu gostava dela. Foi ela, no dia da minha chegada, a primeira a sorrir‑me e a apontar‑me um copo, dizendo shrep... beber.
A história do casamento de Shiffa ilustra bem a precaridade das suas condições de vida. Aos treze anos, engravidará duas vezes no mesmo ano e perderá os seus dois bebés. Aos catorze anos, fá‑lo‑á de novo e a mãe levá‑la‑á para a cidade para dar à luz. Terá dois gémeos, dos quais um morrerá à nascença e o outro, passados alguns dias.
A malária atinge‑me de novo. Desta vez não chamam o médico, contentam‑se em tratar‑me com leite de camela. Esta cidade é um inferno. As formigas encarnadas, os mosquitos, as ruas sujas pejadas de detritos de toda a espécie... Tenho arrepios de febre, depois torno a levantar‑me e recomeço. A eternidade da desfilada das semanas e dos meses. O tempo que não muda de cores nem de estações. Sol tórrido, poeira e camelos que passam. à noite, entre as mulheres veladas, conta‑se por entre os muros altos que em Taez, ou Sanaa, um homem lapidou uma mulher de cara destapada... Mexerico ou história autêntica... quem pode saber? A intoxicação dos homens é permanente.
No mês de Abril de 1981, Abdul Khada toma de súbito uma decisão. E toda a gente obedece. Está farto de Hays, vai trabalhar algum tempo para o estrangeiro. Vende o restaurante e planeou o nosso regresso a Hockall sem nos prevenir. Ward está feliz e eu também. É tudo tão fácil, quando o homem decide. Ele quis partir e nós partimos. Somos os seus objectos.
Alegria, regresso para junto de Nadia. Adeus poeira e formigas encarnadas, adeus malária. Prefiro a minha prisão nas montanhas a este inferno entre quatro paredes.
Quatro dias depois da sua partida para o estrangeiro, chega da Arábia Saudita uma carta de Abdul Khada, em inglês, que me é dirigida. Mesmo de longe, certifica‑se de que a sua autoridade será respeitada. O dinheiro chegará a Ward através do seu intermediário habitual, Nasser Saleh, estabelecido em Taez. Se lhe faltar, ela deixará as contas à espera nos comerciantes da aldeia e pedirá ao seu filho Mohammed que escreva uma carta a pedir mais. Quanto a mim, mostra‑se desolado por já não ter gente crescida com quem falar na sua ausência.
Eu, desolada, não estou propriamente. Continuo determinada a fugir. Deve haver um meio. Abdul Khada já cá não está; quanto a Mohammed, trabalha em Taez, numa fábrica de manteiga.
Sem os dois homens, a vida é diferente. Já quase não comemos carne, é sobretudo legumes e chapatis. E o trabalho é ainda mais penoso. Mas a atmosfera é mais tranquila. Não temo ser agredida ao primeiro pretexto. Posso recusar que Abdullah me incomode sem que ele se vá queixar imediatamente ao pai.
Mas estamos sempre sob vigilância. A influência de Abdul Khada sobre a família e na aldeia, o temor que ele provoca, a sua reputação de violência, levam qualquer um a reflectir antes de o enganar.
Gowad, por seu lado, não voltou a partir para o estrangeiro. Continua aqui, dono da minha irmã. A Nadia fala árabe muito melhor do que eu, vê mais gente, dá‑se com as mulheres da sua aldeia e mudou muito. Em Inglaterra, tendia para o tipo "Maria rapaz", sempre empoleirada em qualquer sítio e rindo de tudo e de nada. A nossa história apanhou‑a de surpresa em plena infância. Obedece como uma criança. Traz consigo uma tristeza infinita. Quando falamos da mamã e continuamos a falar dela, chora quase resignada.
Quando voltei de Hays, Bakela estava grávida. Parecia feliz por isso, desejando ter desta vez um rapaz. Imaginava que a levariam para o hospital de Taez uma vez chegado o momento do parto. Fora aquilo que aprendemos na escola, eu não tinha qualquer experiência na matéria.
Um dia, Bakela pousa o seu carregamento de lenha e começa a gemer. Dobrada em duas, sobe ao quarto e deita‑se no chão. Tinham começado as contracções. Nesse dia, à parte o velho avô cego, sentado no banco, inútil, só há duas mulheres em casa.
A velha mãe de Abdul Khada, Saeeda, que deve ter cerca de setenta anos, e com quem quase não tenho relações, sentou‑se no chão, observa a evolução do trabalho. Ward e Haola, sua sobrinha, também esperam. Estendida no chão, Bakela não pára de gemer. Elas não precisam de mim e de resto eu não saberia o que fazer. O que se segue enche‑me de horror perante a ideia de que me possa acontecer a mesma coisa.
Haola apoia a cabeça de Bakela para a ajudar a respirar. Ward levou água para o telhado para lavar a criança. Jurara a mim mesma fechar os olhos, mas quando a cabeça aparece, arrebata‑me o fascínio. O corpo da criança resvala numa enxurrada de sangue. Ward corta o cordão com uma navalha de barba e levam imediatamente o recém‑nascido, para lhe darem banho lá em cima, no telhado.
Exausta, Bakela espera, sempre deitada, que elas voltem e comecem, calmas e silenciosas, a lavar o chão e que a ajudem depois a estender‑se finalmente em cima da cama.
Colocam a criança numa espécie de caminha de rede, que consiste num pedaço de tecido que atam com o auxílio de uma corda ao prumo da cama. O bebé é assim suspenso à altura da mãe.
Correu tudo bem, Bakela é mãe de um saudável rapazinho. Mas estou tremendamente chocada. Nem médico, nem remédios, não há qualquer possibilidade de tratar a mãe ou a criança caso haja problema. Todo aquele sangue, aquela mulher estendida no chão, nem sequer um lençol, nem sequer uma almofada, aquela navalha de barba... é monstruoso.
Abdul Khada prometera‑me que se ficasse à espera de um filho podia ir para Inglaterra. "Antes ou depois? Terei de dar à luz daquela forma, como Bakela, deitada no chão como um bicho?"
Mohammed devia voltar nessa noite de Taez; ao chegar à aldeia, soube pelos rumores que tinha um filho. Estava doido de alegria. No Iémen, um filho vale mais do que uma filha, no espírito do pai. E no meu espírito também. Ao menos não será vendido.
Bakela fica de cama uma semana, levam‑lhe as refeições, Ward trata do bebé e sou eu que me encarrego das tarefas suplementares. A água, a cozinha, os chapatis, as mãos queimadas, as costas desfeitas. Aparentemente, desço mais alguns degraus na conformação à condição da mulher árabe respeitosa. Mas continuo a procurar de uma maneira de fugir. A realidade é que aquele parto foi difícil de suportar. O que se lhe seguiu sê‑lo‑á igualmente.
No Iémen, quando uma mulher tem um filho recebe muitas visitas, presentes, dinheiro. Por um rapaz, a festa é ainda maior e ao sétimo dia circuncidam‑no. Mohammed matou um carneiro para a cerimónia. Veio um homem da aldeia, o especialista, pago a peso de ouro para realizar a operação. Nada tem nada de cirurgião, nenhuma noção médica, limitou‑se a herdar a função do seu pai.
Para fazer a circuncisão, o homem estica o prepúcio do bebé entre o polegar e o indicador, e ata‑o vigorosamente com um pedaço de algodão. Depois, com uma navalha de barba, corta a pele e o trapo a toda a volta do pénis, até estar bem limpo. O bebé berra, o sangue escorre.
Aquilo é atroz.
Depois, a ferida é coberta com uma loção tão vermelha como o mercurocromo e a criança é entregue à mãe, que o embala para lhe acalmar a dor. Durante duas semanas, os únicos cuidados consistem em manter uma compressa entre as pernas do bebé, para evitar os atritos e que a ferida sangre.
O pequeno Ahmed é relativamente feliz. Ouvi dizer que noutras regiões se praticava a circuncisão muito mais tarde, na idade da adolescência, e que o ritual era pavorosamente bárbaro. O operador atira o prepúcio para a multidão que assiste. Quanto ao jovem, conserva um punhal na têmpora e não pode gritar, nem chorar, nem mexer‑se. Assim se torna um homem...
Ahmed chorou longamente nos braços de Bakela e quando eu descrevi a cena à Nadia ela contou‑me uma outra ainda mais assustadora. A sua sogra, Samala, dera à luz uma menina e Nadia assistira à excisão.
Agarram a pequenina completamente nua, uma mulher estica os dois bocados de pele que constituem os pequenos lábios e cose‑os com uma agulha. Feita a costura, corta com uma navalha de barba o excesso de pele. Nadia não soube dizer‑me se a mulher cortara a pele do clítoris.
Na cidade, em Hays, as mulheres falam disso entre si e, felizmente, o costume está‑se a perder. Já não acreditam nas balelas que os aldeões ainda contam às rapariguinhas para as convencerem de que a excisão é higiénica. Dizem‑lhes que se a pele não for cortada os lábios esticarão com a idade e que elas andarão por cima deles. Como é que se pode acreditar em tais disparates? Seja como for, na aldeia, a maior parte delas está convencida disso e quando as mulheres souberam que a Nadia não era excisada fizeram troça dela. As graçolas não param. Uma rapariga teve mesmo o descaramento de lhe perguntar como é que ela fazia para não sentir incómodo ao andar. Foi preciso que Salama interviesse junto de Gowad para que a rapariga deixasse de a importunar daquela forma. Em relação a mim, é diferente. Sendo a casa de Abdul Khada isolada da aldeia, não estou permanentemente mergulhada na atmosfera asfixiante daquele universo feminino.
Assim acabam de se passar três meses desde o nosso regresso de Hays. E eu continuo sem esperança de encontrar alguém que me ajude, apesar da relativa liberdade que a ausência de Abdul Khada me dá.
Agora posso ir sozinha à aldeia, para fazer as compras, e conheci um sábio que fala um pouco de inglês.
O sábio é o homem a quem se recorre quando há um conflito. Em caso de divórcio, por exemplo. Uma mulher pode obter o divórcio, na condição de abandonar os seus filhos ao marido e de voltar a viver no seio da sua família. Poucas mulheres se resignam a isso, justamente por causa dos filhos, e suportam, por vezes durante longos anos, um marido infernal.
O sábio descende de uma boa família e é habitualmente mais rico do que os outros e É pago pelos seus conselhos... O sábio da aldeia de Hockail é um homem bastante belo, respeitável, e dei‑me conta, ao ouvi‑lo falar, de que conhecia a maior parte dos segredos das mulheres da aldeia. Segredos esses que não duram muito e que depressa se tornam na alegria das comadres.
Se eu lhe confiasse o meu problema, depressa Abdul Khada disso seria informado, à velocidade dos telefones árabes. Por isso me calo. Para quê pedir‑lhe ajuda? Para o divórcio, é preciso que o marido seja infiel, que toda a gente o saiba, que a família se reúna e que Se dê dinheiro ao sábio para que ele tome uma decisão... Infelizmente, Abdullah não é infiel.
E onde arranjar dinheiro para pagar àquele homem?
A minha única confidente é Haola, a sobrinha de Abdul Khada e de Ward. Vive na casa mais próxima da nossa. A ela, posso contar tudo; que sou infeliz, que não aguento aquele casamento‑violação. Só me pode lamentar, ajudar não. É através dela que sei o que as outras mulheres pensam de mim. Têm curiosidade em saber como se comporta Abdullah, tão insignificante e débil que fazem troça dele. Algumas fizeram‑me directamente a pergunta:
‑ Como é que fazes para lhe dar assistência?
E vá de rir e de troçar... como se eu estivesse privada de um prazer qualquer. Como se o essencial da existência fosse ter um homem na cama. Estamos a léguas de nos entendermos. Eu acho‑as patéticas. Ignoro o que seja o prazer sexual, ignoro, de resto, o que elas entendem por isso. Privadas à nascença de uma parte do seu sexo, sabê‑lo‑ão elas próprias? E eu também não. Em breve farei dezassete anos. O meu único namorico está em Birmingham, livre. "Estará à minha espera? Como lho dizer, se voltar a vê‑lo? Será que ele compreende?"
Na ausência do marido, Ward assumiu o poder. Tenho de fazer o que ela me pede, sob pena de apanhar uma sova quando Abdul Khada voltar. Ela gosta de abusar desse poder sobre mim. Gosta de me privar de alimento durante dias consecutivos, à menor afronta da minha parte. Atira‑me restos dos dias anteriores, como a um cão. às vezes, só tenho chá e cigarros durante dois ou três dias. Se me queixo a Bakela, a resposta é sempre a mesma:
‑ É a Ward a responsável. Não lhe posso dizer nada. Tenho de respeitar a minha sogra. Tu também.
Bakela não é tão maltratada como eu, mas quando o é não protesta. Faz parte dos hábitos respeitar a sogra. Mas Ward não é uma sogra vulgar. A própria mãe diz que ela é má. As mulheres da aldeia reconhecem que me trata muito mal. Ignoro a verdadeira razão da sua raiva, que não seja para retribuir à minha. Talvez o facto de terem comprado uma mulher para o filho no estrangeiro lhe tenha dado um desgosto. "Puta branca", disse ela.
Acontece‑me ter tanta fome que a cabeça me anda à roda. Não posso sequer desenvencilhar‑me sozinha para fazer o que comer. Ela guarda as provisões no quarto e fecha‑o à chave. Temos galinhas e o luxo de ovos frescos, mas ela dá‑os aos filhos de Bakela e nunca a mim. A Nadia, que também tem galinhas, traz‑me por vezes ovos para eu comer. Uma vizinha deu‑me comida uma vez, tão esfaimada eu estava. Mas esse género de auxílio é excepcional.
Vejo passarem‑me na mente os cartuchos deflsh and chips de Birmingham. às vezes quase lhes sentia o cheiro, fechando os olhos. Eos bolos de gengibre, os meus preferidos, que deixam na língua um gostinho acidulado...
Hoje, tenho tonturas no caminho ao ir buscar lenha para o lume. O Sol descreve círculos de todas as cores diante dos meus olhos. Esta manhã, não ingeri nada para além de chá frio e um resto de chapatis.
Uma serpente desafia‑me, avança de rojo para mim, silvando; com a pequena cabeça apontada na minha direcção, imobiliza‑se na vertical. Apenas movo uma mão para me apossar de um pau e, tomada de uma fúria terrível, ponho‑me a bater, a bater. A surpresa, o meu estado de fraqueza, quase me enlouquecem. Ela podia ter‑me mordido, eu podia ter morrido, estupidamente... Matar aquela serpente, massacrá‑la, é uma espécie de exorcismo. Mato Abdul Khada, mato Ward, mato, mato... Até à exaustão.
Tem a cabeça desfeita, pego‑lhe pelo pescoço e de súbito assalta‑me uma ideia. Ouvi dizer que a carne de serpente é comestível. Um metro de comprimento de carne imóvel à minha frente. Um corpo muito esguio. Venenosa ou não? Dizem que são todas venenosas, no Iémen. Morreu de boca aberta.
Vou fazer uma fogueira. Preciso de uma faca para a esfolar. Como não estou longe de casa, esgueiro‑me para a cozinha, trago comigo o facalhão para cortar a carne de carneiro e corto‑lhe a cabeça. Mal a atirei para um pouco mais longe, os abutres precipitam‑se. Volteiam no céu constantemente, à caça de cadáveres de animais. Um deles pica, agarra a cabeça e vai pousar mais longe. Corto um pedaço de serpente e começo a esfolá‑lo como teria cortado uma talhada de melão, ao comprido. Não gosto das peles da carne. Uma vez esfolada, a serpente deixa à mostra uma carne semelhante à da galinha, ligeiramente rosada.
O lume pegou, vou pô‑la a grelhar, como se grelhava o peixe, em Hays. Directamente à chama. Espero no mínimo meia hora para que a carne ganhe uma cor de grelhada. E como o pedaço inteiro, de uma só vez, avidamente. É bom, melhor até do que galinha. Os abutres regalam‑se com os restos. Sou um animal selvagem entre animais selvagens.
Uma vez refeita, pergunto‑me porque fiz eu aquilo. Reflexo, fome, medo... Em Inglaterra, se me tivessem mostrado uma serpente, teria fugido a sete pés. Tal como à maioria das raparigas, só a ideia da serpente me provocava arrepios. E eu comi‑a. Estou satisfeita por tê‑la comido.
Passado um tempo, quando lhe conto do meu repasto, Nadia olha‑me estupefacta.
‑ Isso é disparate, porque é que fizeste isso? Eu tinha‑te dado de comer.
Nadia não tem medo de matar um animal. Por muito frágil que possa parecer, é mais capaz de torcer o pescoço a uma galinha do que eu.
No fundo, aquilo não era fome. Antes uma violência necessária. A mesma que me leva a esmagar os lagartos com uma sapatada. Necessidade de matar.
Abdul Khada foi informado da forma como a sua mulher, Ward, me trata. Ignoro por quem, talvez por Mohammed.
"Disseram‑me que tens fome e que vais procurar o que comer a outras casas. Quero uma explicação", escreveu‑me ele da Arábia Saudita.
"É verdade. Não tenho dinheiro, dependo de Ward e ela é muito cruel comigo", respondi eu.
Passado algum tempo, mandou uma carta, desta vez a Ward. Como ela é incapaz de ler, uma das mulheres da aldeia veio cá a casa, para lhe transmitir o seu conteúdo. De ouvido a escuta, surpreendi o essencial da mensagem. Ele ordenou‑lhe que deixasse as provisões à minha disposição. Está furiosa, mas o extraordinário é que nada mais pode fazer senão obedecer ao marido. Se não o fizer, eu poderia transmitir‑lho. Já sabe que falei dela com outras mulheres, que a julgámos. Resultado, detesta‑me ainda mais.
‑ Hás‑de ficar na aldeia para o resto da tua vida. Como as outras. O que é que tu julgas? Que hás‑de voltar um dia para a tua "bela e rica Inglaterra"? Maldita sejas!
É uma delícia ignorar os seus insultos, vê‑la debater‑se, à luz da tocha, sobre o lume, cozer os chapatis, perseguir as galinhas e tratar das vacas.
Torno‑me mesquinha.
Abdullah está doente. Desde há algum tempo que está cada vez mais fraco e pálido e tortura‑me uma pergunta angustiante. O facto de ter tido relações com ele ter‑me‑á contaminado? Desconheço o que tem, mas deve ser grave, pois Mohammed leva‑o constantemente a um médico em Taez, trá‑lo de volta e leva‑o de novo. Ninguém parece perceber do que é que sofre. Ward diz que ele sempre foi doente, sempre magro e sem apetite, mas que isso piorou com o crescimento. Porque cresceu, pouco, mas cresceu. Samir, o "marido" de Nadia, desenvolveu‑se muito mais do que ele e ganha ares de homenzinho. O Abdullah definha pouco a pouco. Dão‑lhe medicamentos que não têm qualquer efeito e um dia Mohammed informa‑nos de que o doutor aconselha a levá‑lo ao estrangeiro, para um diagnóstico. Quer a Inglaterra, quer à Arábia Saudita. Escreve a Abdul Khada para o informar da gravidade do estado de Abdullah e da necessidade de o submeter a um tratamento fora do Iémen. Abdul Khada faz orelhas moucas, dir‑se‑ia que se recusa a reconhecer que o seu segundo filho é um doente. Mohammed obtém então autorização para o levar durante umas semanas para o hospital de Taez.
Semanas de felicidade para mim. Não me envergonho de dizer que nessa altura desejei francamente que ele morresse. Teria assim ficado livre para voltar a Inglaterra.
Seja como for, é magnífico não o ter em casa. Dormir sozinha. Desde há algum tempo que ele não tinha sequer força para reclamar e obter relações sexuais. Mas só o facto de o ver me incomoda. Não o ter à minha volta é já uma parte daquela liberdade que desejei mais do que qualquer outra coisa no mundo. Livre de sonhar à noite, sem a sua presença, sem o seu odor, sem as suas pieguices. Livre de subir ao telhado, à noite, para ver as estrelas e respirar a frescura. Sonhar que voo para lá das montanhas. Para me arrepiar com os uivos dos lobos. Para me tomar por uma águia sumindo‑se no poente.
Finalmente, Abdul Khada regressa da Arábia Saudita para se certificar do estado das coisas e tem de se render à evidência.
‑ Tenho de levar o Abdullah comigo...
Fita‑me como uma serpente fita um arganaz.
‑ Para Inglaterra... queres vir connosco?
É uma armadilha. Espera que eu diga que sim para me bater ou, no mínimo, para me insultar.
‑ Eu tenho o teu passaporte, sabes? Se quiseres, marco a viagem para nós os três...
Começo a acreditar que diz a verdade. Muito simplesmente porque, lá, precisará de mim para tratar dele. Julga‑me dominada...
‑ Mandaste as cartas que eu escrevi à mamã?
Devo ter escrito umas dez, obstinada, sabendo perfeitamente que ele lhas não faria chegar.
‑ Claro. Se ela não te vem visitar, a culpa não é minha.
É terrível suportar esse tipo de pensamento. A dúvida... - A tua mãe não se interessa por ti... sabe onde estás e não vem. - Está a mentir... agarro‑me a essa ideia. E também à esperança de que ele me vai realmente levar consigo. Tem um ar sincero. Pelo meu lado, fiz tudo aquilo que podia para lhe dar a sensação de que estava a integrar‑me na sua família. E naquelas cartas ele dizia regularmente que se tudo corresse bem com Abdullah, se tivéssemos um filho, eu poderia voltar a Inglaterra e regressar depois...
Leva‑lhe imenso tempo e dinheiro a conseguir o visto de Abdullah. Negociações a não mais acabar com Nasser Saleh, o seu intermediário em Taez. Tem de apresentar uma carta de um médico do hospital, certificando a necessidade dos tratamentos no estrangeiro, com urgência. Vendo‑o tão preocupado, instalo‑me cada vez mais na ideia de que tudo aquilo é verdade. Vamos partir.
Escrevo, com a Nadia, uma longa carta à mamã. Conto‑lhe tudo, a doença de Abdullah, a nossa partida iminente, especificando: "Uma vez em Inglaterra, temos de fazer todo o possível para mandar regressar a Nadia. Adoro‑te, mamã, até breve."
Ao entregar a carta a Abdul Khada, para que a ponha no correio, um pequeno arrepio percorre‑me as costas. Mas ele não faz perguntas, mete‑a no bolso dizendo que a mandará de Taez, onde tem de ir uma vez mais falar com Nasser Saleh, para obter determinados papéis oficiais.
Espero febrilmente pela partida, sem o mostrar. A primeira a levantar‑me, ao alvorecer, para os carregamentos de água, de lenha, e as tarefas da cozinha, não me poupo a esforços. Sinto uma ternura súbita pelos dois velhos de quem Ward nem sequer trata, aproximo‑me deles. O avô conta‑me a sua guerra, as espingardas, no tempo da revolução e da luta entre as duas províncias. Os dias passam e Abdul Khada encurrala‑me na cozinha.
- Escreveste à tua mãe uma carta que o teu pai me devolveu.
Não a mandou, tenho a certeza. Abriu‑a e aproveita esse pretexto para me impedir de partir.
‑ O teu pai está muito zangado, disse‑me que não devias acompanhar Abdullah a Inglaterra.
Estava tão segura de me escapulir desta vez, estava tão confiante... que recebo a notícia como um furacão em cheio na cara. Fora de mim, salto‑lhe para cima, agredindo‑o com todas as minhas forças, estrangulada pelas lágrimas.
‑ Mentes! Não mandaste as cartas, nunca as mandaste! Abriste‑as sempre! A mamã não sabe no que nós nos tornámos! Confessa, vá, confessa!
É impossível controlar‑me. Todos os esforços desta última semana para o cativar não serviram para nada. Fez‑me trabalhar. Deixou‑me escrever, para ver. Que esteja ou não de conivência com o meu pai, pouco me importa. O que eu queria que ele confessasse, era que a mamã não sabe. Que anda à nossa procura, que vai acabar por nos encontrar, e que ele está com medo.
Repele‑me como a um vulgar mosquito. Sentada no chão daquela cozinha infecta que cheira a fumo e a estábulo, dou murros no vazio, desesperadamente só.
Aprendi a matar galinhas com uma faca. Toda a gente nesta casa tem de saber matar uma galinha. As pessoas da aldeia compram as galinhas vivas àqueles que as criam. Abdul Khada tem um galinheiro e se queremos comer temos de matar. Alguns homens arrancam pura e simplesmente a cabeça do animal com as mãos. O espectáculo é horrível, pois a ave continua a agitar‑se e corre por todo o lado sem cabeça, batendo as asas. Uma vez cortada a cabeça, a melhor solução é mergulhar o animal num balde de água a ferver, o que mata os nervos instantaneamente e o impede de espernear em todos os sentidos. Após o que só resta depená‑la, esvaziá‑la e pô‑la ao lume.
Sempre que corto o pescoço de uma galinha, imagino que é o pescoço de Abdul Khada. Tenho pesadelos em relação a ele, tanto de dia como de noite.
No dia do Ead, uma festa religiosa equivalente ao Natal, tem de se matar um carneiro. Na ausência de Abdul Khada, essa tarefa cabe habitualmente a Ward. Ora nesse dia, ela recusa‑se. Ignoro a razão dessa atitude; talvez queira pôr‑me em apuros, mas felizmente Tahamia, a irmã de Abdul Khada, veio lá de baixo da aldeia para passar algumas semanas connosco e propõe‑se fazê-lo, na condição de eu ajudar.
Já vi matar o carneiro quando os homens estão em casa. Um carneiro dura três ou quatro dias, durante os quais a carcaça permanece suspensa à porta da cozinha, rodeada de moscas. Comem antes de nós, e também a isso me tive de habituar.
Tahamia mantém o carneiro deitado, levantando‑lhe a cabeça para lhe cortar a garganta, segura a grande faca de cozinha com uma mão, o pescoço com a outra, e diz: ‑ Em nome de Deus. ‑ Sempre que eles matam, é em nome de Deus. Eu, quando mato uma galinha, não meto Deus ao barulho.
Tahamia vê‑se em dificuldades, a faca resvala de través e o carneiro debate‑se dramaticamente enquanto que devia ter morrido com um só golpe. Aquilo é insuportável, não consigo olhar. O sangue escorreu por todo o lado ao seu redor. Ela já não sabe o que fazer e o pobre animal agoniza. Os gritos, o olhar daquele bicho, deixam‑me doente.
‑ És cruel! Porque é que fizeste assim?
Ela olha‑me, esgazeada. É pura e simplesmente desajeitada. É necessária uma grande prática para cortar a garganta de um animal de um só golpe. Então, de um salto, arranco‑lhe a faca das mãos e repito o gesto que tantas vezes vira os homens fazerem. Com uma força e uma determinação de que me não julgava capaz, movida pela repulsa, pela necessidade de agir depressa, de não ver sofrer o bicho. O sangue esparrinha‑me as mãos, os braços, brota como uma nascente quente. Cerro os dentes de sofrimento. Mas desta vez o animal morre com um golpe.
Degolar uma galinha não se assemelha àquela execução que acabo de realizar. A força extraordinária que conduziu o meu braço imediatamente se desvanece. Estou vazia, esgotada, repugnada para além do possível.
Abandono Tahamia e deixo‑a a esquartejar o carneiro. Atira a pele para longe, para o carreiro, que os animais selvagens dela se encarregarão. As hienas rondam sempre próximo de nossas casas. Vivem nas montanhas e aprenderam a atacar os homens, de noite. Muitos aldeões contam histórias abomináveis, segundo as quais teriam encontrado mãos e pés abandonados no caminho que conduz à aldeia. Outrora havia tigres por aqui. O abate das florestas eliminou‑os.
Nunca vi de perto nem um lobo, nem uma hiena, mas todas as noites eles me acompanham com os seus hurros. Do meu quarto, consigo mesmo ouvir‑lhes o barulho das patas nas pedras, as fungadelas, os grunhidos. Procuram detritos e aquela pele de carneiro fará esta noite as suas delícias. Bater‑se‑ão para a retalhar.
Numa noite destas, ouvi gritar lá em baixo, no caminho. Fui àjanela e vi algumas tochas brilharem na noite. No dia seguinte disseram‑me que os aldeões tinham perseguido e matado uma hiena que entrara na aldeia; aquele que a abateu usa os seus dentes ao pescoço, como lembrança.
Acontece também os aldeões perseguirem homens, bandidos salteadores de estábulos, ladrões de gado. Pergunto‑me como é que isso se passa e se eles matam de facto. Provavelmente matam, pois saem armados com espingardas e facas. Mas ninguém fala disso com exactidão. Os homens "deram caça" aos bandidos. Sem mais. As hienas e os abutres devem fazer o resto. Os abutres continuam a fascinar‑me. Todas as rapaces da montanha, pequenas ou grandes. Basta erguer a cabeça para o céu, para as vermos voltear lá por cima, sem descanso.
Nós, em Hockail, vivemos num estado de selvajaria medieval e de escravatura igualmente medieval.
No período das sementeiras, como neste momento, as mulheres andam nos campos durante duas semanas consecutivas. Os homens quase não se encontrando presentes, nós fazemos de tudo. Por demais avarenta, Ward recusa‑se a contratar um homem e um boi para lavrarem. Cabe‑nos a nós, Bakela e eu, fazê‑lo. Os instrumentos são rudimentares. Uma simples enxada e temos de semear ou plantar cada semente ou cada planta individualmente. Eu saio de manhã cedo e só volto noite alta, trabalhando sob um calor intenso, de costas vergadas, doridas, com bolhas nas mãos e nos pés. Não nos podemos esquecer de beber frequentemente, para não morrermos de desidratação. Bakela não me ajuda grande coisa, pois tem de tratar dos filhos. Depois do nascimento do último, ficou de novo grávida e deu à luz outro rapaz, Khaled.
Ward é autoritária, rancorosa, mas tenho de reconhecer que, tal como todas as mulheres daqui, é forte. Mesmo em velhas, as mulheres continuam a trabalhar nos campos, em casa, como bestas de carga. Ward queria obrigar‑me a trabalhar tanto como ela trabalhou e trabalha ainda.
Os campos de milho esperam pela chuva, que desde há muito não cai. A chuva é um acontecimento importante, mágico. A tempestade prepara‑se na montanha, enche as nuvens, tinge‑as de um amarelo ameaçador. Toda a gente volta para suas casas, aterrorizada, pois é frequente ela fazer mortos. Esperamos. Eu espero com ansiedade. Se não tivesse medo dos relâmpagos e de morrer fulminada por um raio, deixava‑me ficar à chuva, para ela me lavar, para me purificar de toda aquela poeira, dos mosquitos assanhados, das moscas pegajosas, do suor peganhento de uma jorna nos campos.
Mas Ward faz como os outros, fecha as janelas e as portas, conserva‑nos no escuro durante a tempestade e reza. Crê que Deus lança o raio sobre os homens para os punir. É verdade que cada enxurrada impressiona. De uma violência tal que não se ouve falar, respirar. Aquilo dura horas e eles rezam o tempo todo à minha volta, até que o último estalar de chicote de um relâmpago deixe de ressoar na montanha e que a chuva deixe de lavrar a terra como os cascos de um cavalo a galope.
Um arco‑íris por cima da montanha, um vapor que sobe da terra, um silêncio estranho, acolhem‑me lá fora. O céu foi levar a sua ira e os seus benefícios a outro lado. Os poços estarão cheios, com uma água lamacenta, neles as rãs vão‑se juntar. Teremos de nos bater com elas para retirar a nossa parte.
O milho está maduro, temos de o colher, de partir cada caule à mão, de meter as espigas em baldes, de levar a colheita para casa, de debulhar cada cabeça dourada e áspera. Passada a fase das bolhas e dos golpes, as minhas mãos endurecem.
O milho fica de molho em baldes de água toda a noite e no dia seguinte há que moê‑lo no estábulo, sob um enorme rolo de pedra. Os pulsos ficam doridos com aquele esforço repetitivo. A apanha do milho é para nós o trabalho mais duro, mais esgotante. O único de que Ward se queixa, e Bakela também. Na aldeia, certas mulheres têm máquinas de moer. Uma espécie de rodas dotadas de manivela. Outras levam a sua colheita ao vendedor, que faz o trabalho por elas. Dessa forma, já não têm de armazenar a sua farinha e de a amassar para os crepes. Mas Ward recusa tal modernismo, ou facilidade. Faz questão em que trabalhemos à maneira tradicional, mesmo que tenhamos de lá passar a noite e de já não podermos mexer um pulso sem que ele nos doa.
Ouvi esta manhã na aldeia uma mulher invectivar Ward, dizendo‑lhe:
- Porque é que obrigas essa inglesa a trabalhar tão arduamente? Trata do que te diz respeito, ela tem de aprender.
Aprendi. Se fosse alguém comer lá a casa, precisava de três ou quatro horas para moer farinha de milho suficiente. E se tivesse de ir para as plantações no mesmo dia, tinha de a fornecer na quantidade necessária durante a minha ausência. Para além disso, tinha de ir buscar água, de apanhar lenha, de limpar a casa com uma minúscula vassoura de palha.
A lida... A casa está sempre cheia de poeira, as lagartixas vão pôr os ovos em cachos no tecto. Limpar é uma empresa sem fim. A poeira persegue‑me, mal desaparece. Os fardos de ovos tornam a aparecer no tecto como que por encanto.
Há também os monitores. Aqueles mostrengos dinossauros, como o que encontrei uma vez no caminho. Um deles entrou outro dia dentro de casa, foi directamente para o quarto de Bakela, onde o bebé estava a dormir. Fui a primeira a vê‑lo e gritei. Bakela espancou‑o até à morte e lançou‑o aos abutres. No mês passado, uma serpente tinha‑se enroscado dentro da "rede" do petiz e dormia encostada a ele.
Há sempre qualquer coisa com que lutar ou para matar. Uma tarde, sentada ao sol diante de casa, descanso por uns instantes, de cabeça encostada à parede, com os olhos fechados. Esquecer onde estou, no que me tornei, a escravatura quotidiana que me obrigam a suportar. O único alívio é a ausência de Abdullah. De súbito, algo se move ao longo dos meus cabelos e me faz cócegas no antebraço. Abro um olho para deparar com uma enorme tarântula, peluda, raiada de castanho e preto, que se passeia lentamente pelo meu corpo. Horrorizada, sigo a sua progressão. Toda a minha pele se heriça, fico de pele de galinha, estou gelada, não ouso já respirar.
Em princípio, não nos devemos mexer nem fazer gestos bruscos. Mas ao cabo de um minuto que me parece um século, não consigo resistir. O meu braço projecta‑a no ar. Ela cai no chão e salto‑lhe em cima. Sinto‑a esborrachar‑se debaixo da sola da sandália de plástico. Um barulho repugnante. E volto para casa a gritar como uma louca. Ward fita‑me, encolhendo os ombros com desprezo. Não é um negócio de Estado, a visita de uma tarântula.
Bem posso ter cuidado, estar atenta a cada passo, que um dia, ao descer a escada no escuro, de madrugada, para ir ao poço, uma dor aguda num tornozelo me faz dar um salto, largar o bidão, que desce a escada de escantilhão com um barulho de ferro‑velho. Desço aos tropeções até à luz da porta. Tenho um enorme escorpião preto agarrado ao tornozelo, pendurado pelas pinças. Tenta encurvar a cauda para me picar, mas o ângulo não é fácil e eu grito tão alto que Bakela se precipita em meu auxilio, pega num pau e bate violentamente para o atirar ao ar de um lado ao outro da sala.
A Nadia teve menos sorte do que eu. Na aldeia, as mulheres cultivam em vaso umas plantas chamadas mushkoor, nos telhados das casas. A folha é olorosa e usada para perfumar os cabelos e as roupas. Nadia estava a plantar sementes de mushkoor num vaso quando uma cria de escorpião a picou. Salama ouviu‑a gritar e precipitou‑se para a ajudar, mas o veneno passara para o sangue. Quando fui ver a minha irmã, tinha o corpo inchado como um odre, a pele completamente encarnada e julguei que ia morrer. Salama e as outras mulheres recorreram a um unguento à base de ervas que eu não conhecia. Ao fim de alguns dias, Nadia restabeleceu‑se. Questão de sorte, diz a gente daqui. Alguns morrem, outros não. Tudo questão de sorte...
O trabalho, o sofrimento, a prisão. Noticia alguma do mundo nem de casa. Abdul Khada reapossou‑se da sua televisão, vendo que as litanias de orações em árabe não me interessavam. Resta‑me a minha música, as minhas cassetes, das quais duas, as minhas preferidas, desapareceram. Eles não gostam da minha música. Quando me refugio no quarto para a ouvir, é raro que Ward não venha a gritar atrás de mim, por estar muito alta.
Terminadas as colheitas, tenho de tratar também dos animais. Tirá‑los do estábulo, lavá‑los à mão. Depois levá‑los a pastar e ficar junto do rebanho, para os proteger dos lobos e das hienas. No calor tórrido do dia, há que descobrir um recanto à sombra, um espinheiro raquítico ou uma árvore de fruto. Sentar‑me e esperar que o tempo passe.
Aqui, ele passa e não se conta. Nem pêndulo, nem relógio, o Sol é o único guia. A alvorada, o cair do dia.
O único momento de que posso dispor é à noite, ao pôr do Sol. Sento‑me lá fora junto do velho Saala Saef, que também esperou imóvel e enroscado que o tempo passasse. Falo‑lhe de tudo, ele conta‑me o seu passado, a vida de antes, quando partia as pedras à mão para construir as casas. Construiu aquela. O velho cego tornou‑se um confidente. Já não pode fazer nada, sabe‑se um peso para os outros. O silêncio preserva‑o durante o dia. à noite, fala comigo.
‑ Sou infeliz aqui, Saala....... A Ward é má, gostava tanto de voltar para casa. Sabes onde é a minha casa? Lá longe, em Inglaterra. Nunca foste a Inglaterra? Queres ajudar‑me?
‑ Não posso fazer nada por ti, Zana. Tem paciência. Um dia, hás‑de voltar para o teu país, lá longe... Hás‑de ver, tem paciência... A paciência é a única virtude que nos sustenta.
Dois anos de paciência. Dois anos de silêncio, de sofrimento. De resistência. Quanta paciência mais?
‑ Chorar tira‑te a força. Paciência...
Paciência, no meio da montanha, paciência debaixo da chuva da tempestade, paciência ao moer o milho, ao tirar a bosta das vacas magras e dos carneiros, paciência trabalhando como um burro. Estou magra, estou curtida e tisnada pelo sol. Por vezes, a malária faz‑me tremer durante a noite. Por vezes, de cara escondida na almofada, soluço até morrer.
Paciência para não morrer aqui.
O amo voltou. Abdul Khada deve ter dinheiro, pois decidiu ampliar a casa. Quer transformar o telhado de que nos servimos como terraço e fazer nele uma sala para receber os seus convidados.
Contratou dois homens para esse trabalho. E a presença de estranhos na família implica que nós, mulheres, tenhamos de usar o véu de contínuo. Já lá vai o tempo em que se perfurava a montanha para dela se extrair pedras: enormes perpianhos são trazidos da cidade por camiões, que os descarregam no sopé da colina. Nós temos de os transportar depois até casa, tomando o caminho a pique. Dois ou três perpianhos em equilíbrio em cima da cabeça, por vezes um saco de cimento. O saco de cimento é o pior de tudo, sempre prestes a rebentar, deixando escapar uma poalha que me cai para os olhos e para a boca, misturada com o suor.
Lá em cima, os dois operários esperam pelos materiais. O peso dos sacos curva‑me a cabeça para a frente, distende‑me os músculos da nuca, e tenho dificuldade em respirar ao subir a montanha. Sou obrigada a parar com frequência. Há uma semana que é a mesma nora esgotante, dia após dia, em pleno sol, da alvorada ao cair da noite.
E entretanto Abdul Khada senta‑se junto do pai, contempla o trabalho dos outros, critica, instiga; é odioso. Alguns vizinhos ajudam, Bakela também, quando pode, e os filhos dos vizinhos, mas o monte de perpianhos é enorme. Tento acelerar a cadência, transportando maior número por cada trajecto, mas o esforço é demasiado doloroso, escorrego, deixa‑se cair um perpianho e tudo tem de recomeçar, sob os insultos do "senhor".
Uma vez completamente transportado o monte de perpianhos lá para cima, há que ajudar a misturar o cimento em cima do telhado. O problema, então, é a água. É precisa imensa.
O que significa ir de poço em poço ao redor da aldeia. Sozinha, não posso transportar a água suficiente com rapidez bastante. Ele contratou, por isso, duas raparigas da aldeia para me ajudarem de dia. Mas tenho de prosseguir à noite, no escuro, para manter o abastecimento.
à noite, tenho medo, medo de encontrar lobos, medo de pisar um escorpião, medo de cair. Medo de tudo. Bakela acompanha‑me às vezes, mas na maior parte do tempo estou só.
Não choveu de todo, desde há duas semanas. E quando, uma manhã, a chuva se decide a cair, é como que um milagre. Chove, chove, a não mais acabar, durante todo o dia. Os poços vão ficar cheios, não precisarei de ir tão longe. Infelizmente, esse milagre vira‑se contra mim. Sabendo que aquilo não há‑de durar, Abdul Khada dá‑nos ordem para trabalharmos ainda mais. É questão de levar aquele dom do céu para casa, antes que os outros aldeões dele se aproveitem. Antes que a água se infiltre na terra e esteja perdida para nós. Instalou dois enormes reservatórios no telhado, que têm de estar cheios de contínuo.
Usar o véu é, nessas condições, uma prova suplementar. Sufoco a todo o momento. O pó de cimento infiltra‑se por baixo dele e eu mastigo‑o, espirro‑o, cuspo‑o. Logo que torno a descer do telhado onde os operários trabalham, levanto‑o rapidamente para procurar ar.
Com este ritmo infernal, há muito tempo que não vejo Nadia e quando Abdul Khada me dá ordem para descer a Ashube, para ir buscar um reservatório que Gowad lhe empresta, aproveito a ocasião. O trajecto é bastante longo; à uma da tarde, o sol cai como chumbo, em brasa; levo a pequena Tamanay comigo.
- Não te demores no caminho! Precisamos desse depósito! - grita Abdul Khada.
Chegamos a Ashube esgotadas pelo calor e apenas tenho uns minutos para falar com a minha irmã e lhe contar a vida esgotante destas últimas semanas. Quer ir ajudar‑me, mas eu recuso. Aquilo é duro demais, não quero que ela sofra. Naquela casa, está relativamente protegida daquele género de coisas. Fazem‑na trabalhar, como a todas as mulheres, mas Gowad não é Abdul Khada. O meu "sogro" é um persecutor nato. Conversamos durante demasiado tempo, dou‑me conta de que me atrasei, e no regresso ele vai‑me bater.
O depósito é enorme, quase tão grande como eu, e preciso da ajuda de Nadia e de Salama para o pôr à cabeça. Adquiri uma certa experiência neste tipo de transporte, mas no caminho de regresso, porém, um passo em falso desequilibra‑me e o depósito estatela‑se no chão. A pobre da pequena Tamanay, que saltitava ao meu lado, não pode fazer grande coisa para me ajudar. É magricela e nem sequer consegue levantá‑lo. Começo a entrar em pânico; passa das três horas e Abdul Khada já deve estar furioso. A pequena sabe‑o tão bem como eu e pomo‑nos a chorar, com medo de apanhar.
Baixo‑me, para tentar pôr o depósito à cabeça e levanto‑me em seguida com as costas bem direitas, para que ele não caia. Creio bem nunca ter dispendido um esforço físico semelhante. Cada músculo do meu corpo parece rebentar de dor. Fazer força nas pernas, fazer força nas costas, retesar a nuca, os braços erguidos para suportar a carga, estou de tal forma concentrada na dor e no empenho posto em conseguir que não me dou conta do valado. Um espinho vem cravar‑se na minha face e no momento em que finalmente me endireito, num último esforço, incrusta‑se completamente e rasga‑me a pele. Sob a dor, volto a cair de cócoras e pouso o depósito no chão.
‑ Despacha‑te Zana, despacha‑te...
Tamanay chora cada vez mais, eu também mas de dor insuportável. O espinho ficou na carne, arde atrozmente, e quando finalmente o arranco, às cegas, o sangue começa a correr, inundando‑me a cara.
Recomeço, agachada, os músculos tensos, o depósito nas mãos, de braços esticados. Içá‑lo para a cabeça, manter o equilíbrio, fincar‑me nas pernas, tornar a endireitar‑me... consegui, mas titubeio no caminho. Há que subir de novo, caminhando por entre as pedras. Os pés torcem‑se, escorregam de suor na sola de plástico das minhas alpercatas. Se não fossem as pedras e os escorpiões, mais valia ir descalça.
Esqueci‑me, tal como de muitas outras coisas, da sensação de ter verdadeiros sapatos, de andar no plano, sem esforço, sem nada que transportar à cabeça. Revejo‑me nos passeios de Birmingham, deambulando ao longo das montras. Não sabia então o que era andar, avançar penosamente passo a passo. Não pensava nos meus pés. Estavam protegidos, dentro de sapatos normais. Na minha cabeça, não existiam. Neste momento, o meu cérebro regista a dor de cada passo, com uma precisão incrível, como se eles se imprimissem um após outro.
São três e meia quando finalmente chegamos a casa. Ward está na ombreira da porta. Ajuda‑me a pousar o depósito.
‑ O que é que tens?
Sou incapaz de lhe explicar porque é que o sangue me corre da cara. Já não tenho fôlego, já não tenho palavras, tenho a sensação de que me vou esvair ali mesmo.
‑ Sobe e vai dizer ao Abdul que voltaste!
Cada degrau que leva ao telhado é uma montanha a escalar.
‑ O que é que fizeste? Porque é que estás tão atrasada?
Continuo sem conseguir responder. Os meus pulmões estão bloqueados, tenho um nó na garganta, os lábios secos, vejo turvo. Furioso com o meu silêncio, apodera‑se bruscamente do sapato e bate‑me em cheio na cara, com todas as suas forças. A violência da pancada faz‑me cair para trás, de escantilhão escadas abaixo. Estou estendida no chão, sem reacção, e ele está debruçado por cima de mim, branco de cólera.
- Perguntei‑te porque é que vinhas atrasada!
Vai bater de novo. Então levanto‑me a custo, e desta vez as palavras atropelam‑se para contar, o depósito, a minha queda, o espinho... mas ele nem sequer me ouve.
‑ Vai à loja e traz óleo!
Recupero Tamanay, em lágrimas, e partimos de novo para a aldeia. Tamanay é, aos sete anos, considerada a minha guardiã. É suposto impedir‑me de andar a vaguear ou de falar com alguém. Seja como for, de ficar sozinha. Não se sabe o que uma mulher sozinha é capaz de fazer... sobretudo eu. A sua presença é ao mesmo tempo ridícula e eficaz. O medo de, por sua vez, apanhar, faz com que me observe permanentemente. O que não a impede de chorar comigo e de gostar de mim.
Na loja, um homem olha‑me com curiosidade. O véu dissimula uma parte da ferida, mas vê‑se sangue seco na minha face. Conheço aquele homem de vista, fala um pouco de inglês. Mas dentro da loja não diz nada. Olha‑me com curiosidade, sem mais.
O comerciante dá‑me uma lata de doze litros de óleo, e como de costume, a tampa escorrega. O óleo escapa‑se dele gota a gota, lentamente, com regularidade, impregna‑me os cabelos, escorre‑me ao longo da cara, infiltra‑se na ferida, mancha o véu, e eu sufoco, pois, com o calor, o cheiro é intenso. Ponho‑me de novo a andar, com o bidão à cabeça, como uma sonâmbula, hipnotizada. Uma besta de carga que leva pancada para avançar. Um burro. Um camelo.
Ao chegar, escorro óleo, as roupas colam‑se‑me ao corpo. Ele vai provavelmente bater‑me de novo, dado o estado em que estou.
‑ Vai‑te lavar.
É tudo o que encontra para dizer.
No cubículo de banhos, acocorada diante do balde de água, lavo‑me com um trapo, dispo‑me, encharco as roupas sem pensar em nada.
Quando regresso ao meu quarto, Bakela vai‑me tratar com um unguento. Tenho a face rasgada e os olhos tão cavados de cansaço que é o meu fantasma que me fita no espelhinho inglês, vestígio de um outro tempo.
Bakela não está contente com a maneira de me tratar de Abdul Khada. Mas ninguém lho ousa dizer. à parte a sua mãe, Saeeda. Discute frequentemente com ele, quando me bate. Respeita‑a mas não a teme nada. O respeito faz com que não lhe responda quando ela o descompõe, como hoje. A ausência de medo faz com que se esteja nas tintas e a ignore, pura e simplesmente. A pobre velha bem pode levantar a voz e zangar‑se, não passa de uma mulher... Quanto ao pai, ao ouvir‑me esta noite perante a noite escura, no banco, continua com a mesma consolação.
‑ Sê confiante, sê forte, um dia voltarás para casa.
Verá aquele velho cego o invisível?
Finalmente, o cimento e os perpianhos desapareceram. A casa tem mais um andar. Aquele trabalho levou meses. Ward quer agora decorá‑la. Aqui não se usa a pintura nas paredes, mas sim uma espécie de giz branco mergulhado em água, que forma uma pasta, um reboco para as paredes. Só se encontra em certos sítios da montanha e nomeadamente numa aldeia cujo nome é Rukab. Bakela e eu somos, pois, encarregadas de ir apanhar esse giz. Ward dá‑nos sacos para encher e saímos de manhã cedo.
Aquela pequena viagem é uma taluda. A primeira vez que posso ir a outro sítio que não Hockail ou Ashube. E Bakela nunca é quezilenta comigo, pelo contrário.
A liberdade do passeio. Estamos numa região do Maqbana. Algures entre Ibb, Taez e o litoral, não conseguiria de todo localizar‑nos num mapa. Algures no Iémen, nos altos planaltos. Um dia Abdul Khada disse‑me:
‑ Sabes o que quer dizer Iémen?
A terra da felicidade...Que ironia.
Para lá chegarmos tivemos de descer um carreiro na falda da montanha, que por vezes não existia de todo. Rubak espraia‑se no fundo do vale, há nela árvores de fruta, alguma verdura, é agradável. A aldeia é bastante maior do que Hockail. As casas comprimem‑se umas contra as outras. Aí sente‑se a vida, gente. Algumas pessoas percorrem as ruelas estreitas, vêem‑se cabras, galinhas, cães. Um autêntico formigueiro.
à chegada, estamos sedentas e Bakela decide fazer uma paragem em casa de uma irmã de Abdul Khada para beber.
Mal acabámos de chegar, as pessoas afluem para me ver. Para eles, continuo a ser uma curiosidade. A inglesa. Suporto as mulheres, mas detesto os homens, que me fazem perguntas. Detesto que me interroguem como a um bicho estranho. Aos homens, respondo sempre com impertinência.
‑ Eu vivia bem em Inglaterra. Aquela é a minha terra! Esta não...
Em geral, isso basta para que me deixem em paz.
São os homens que eu odeio neste país. Todos eles se parecem com Abdul Khada, com o meu pai. Todos eles são responsáveis pela escravatura das mulheres, pela venda das raparigas para casar. Pelas suas fronteiras, que nunca ninguém transpõe. Disseram‑me que havia turistas na costa do Mar Vermelho, ou em Hays, coisa que eu nunca vi. Nunca encontrei um único estrangeiro, desde a minha chegada.
Abdullah, o meu pretenso marido, continua em Inglaterra, devido à sua misteriosa doença. Os meus compatriotas tratam dele, há médicos ingleses à sua cabeceira, e eu estou aqui, nesta assembleia de iemenitas curiosos.
Ball: ela parece ser aqui muito popular, pois oferecem‑nos ajuda para ir escavar giz à pedreira. Oferecem‑nos café e chapatis. Um pouco de repouso. Agrada‑me aquela trégua e a novidade das caras que me rodeiam. Subitamente, vislumbro a um canto uma rapariga de cerca de catorze anos, gorda e anafada, de cabelos louros como os de uma inglesa, muito bonita. Não se parece com as outras e pergunto a Bakela:
‑ Quem é aquela?
‑ Outra inglesa. Chegou cá quando era peqena.
A emoção faz‑me bater o coração. Outra inglesa, aqui! Preciso absolutamente de falar com ela. Por precaução, digo a Bakela que vou apanhar ar e à saída peço à rapariga e a algumas outras para virem comigo. Ela só fala árabe e esqueceu o inglês. É, por conseguinte, em árabe que contamos uma à outra as nossas histórias, que se assemelham espantosamente.
‑ Eu tinha sete anos, a minha irmã nove. O meu pai é iemenita e a minha mãe inglesa. Mas ela morreu e o meu pai casou com outra mulher inglesa.
‑ Mandou‑te para cá de férias?
‑ Disse um dia que íamos visitar a família dele e partimos juntos, com a minha madrasta também. Era uma mulher má. Quando chegámos a Rukab, ela disse ao meu pai que a minha irmã e eu ficaríamos melhor aqui. O meu pai concordou. Voltaram os dois para Inglaterra e nós ficámos em casa do nosso tio.
‑ És casada?
‑ O meu tio casou‑me com o filho dele quando eu tinha dez anos. A minha irmã casou‑se com outro primo, antes de mim. Já não me lembro quando.
Tal como eu, já não conta o passar do tempo, dos anos. A única coisa que importa, aqui, é sobreviver, dia após dia, noite após noite, até ao infinito.
‑ Lembras‑te de Inglaterra?
‑ Não.
‑ Tens lá família?
‑ Não sei. à excepção do meu pai, mas ele desapareceu, não recebo cartas.
‑ Não te lembras sequer de uma palavra da nossa língua?
Ela fita‑me toda orgulhosa.
‑ Sei contar até dez. Queres que te mostre?
Oiço, de lágrimas nos olhos, aquela bonequinha loira cor de porcelana balbuciar lentamente os números com o sotaque árabe. Um... dois... três...
Choro‑lhe a sorte. Já não se lembra de nada. Aquilo é pior ainda do que em relação a Nadia e a mim. A sua vida em Inglaterra dissipou‑se‑lhe da memória. A rapariguinha que outrora ela foi já não existe. A sua mãe morreu. Já não há esperança para ela. Ninguém para a ajudar.
‑ Há aqui mais inglesas, para além da tua irmã e de ti?
‑ Disseram‑me que havia, mas noutras aldeias, não sei onde, não as conheço.
‑ És feliz aqui?
‑ Oh, não. A mulher do meu tio passa o tempo a bater‑me, não gosta de mim. Insulta‑me, quer que eu lhe faça o trabalho todo.
‑ E a tua irmã?
‑ Está noutra aldeia, creio que tem filhos. Por enquanto, não nos podemos ver.
Separaram-nas para destruir a sua influência sobre a mais nova. No caso delas, isso foi certamente mais fácil, dada a sua tenra idade. Chegar aqui com sete e nove anos significa a inexistência de qualquer esperança de regresso. O que não será o nosso caso. Nós havemos de regressar ao nosso país. Um dia, a mamã há‑de aparecer.
Tornámos a partir, com Bakela, que não me fez qualquer pergunta sobre a rapariga. De inglesa já só lhe restam os cabelos loiros, os olhos azuis e a pele delicada. O necessário para fazer com que a sogra a deteste.
Se eu fosse loira, pergunto‑me até onde iria o ódio de Ward para comigo. - rosa, em árabe. - Bonito nome para um fardo de espinhos. Ainda não dei um filho ao seu filho, o precioso Abdullah. Que continua doente no meu país. Também por isso ela me quer mal, como se a culpa me coubesse a mim e não a ele. As ironias das outras mulheres a esse respeito são insuportáveis para a minha "sogra". Mesmo aos dezasseis anos um homem não é homem se não procriar. E o meu "marido" deve ter agora dezasseis anos. Lá longe, os médicos devem considerá‑lo um adolescente. E estou certa de que ele não se gabou da sua "esposa" inglesa que em breve terá dezoito anos. A maioridade, em Inglaterra. Tenho o direito de votar... Só que desapareci das listas; desconhecida no país, Zana!
Ao atirar para os pés de Ward os sacos de giz branco, cuspo uma vez mais a minha dor.
‑ Conheci uma inglesa na aldeia de Rukab! É tão infeliz como eu!
Bem podes fazer má cara, - eu não pertenço a este país e jamais lhe pertencerei.
Corro a visitar a Nadia, para lhe contar a história. Desde há algum tempo que a minha irmã se tornou muito íntima de uma jovem viúva de um sobrinho de Gowad, falecido na Arábia Saudita, que deixou dois filhos para trás.
Samira poderia ter voltado a casar‑se, mas preferiu ficar sozinha, para criar os filhos. Muitas viúvas fazem a opção do celibato. Finalmente tranquilas, talvez. Certamente.
Ela mesma tem de ganhar dinheiro para suprir as necessidades da família e vai de aldeia em aldeia na qualidade de costureira. Fica no local durante o tempo de confeccionar roupas para as mulheres. Ensinou a profissão à Nadia, que arranjou uma velha máquina de costura e também ela se entregou ao trabalho. Quando Samira viaja, confia a Nadia o mais novo dos filhos, ainda bebé, enquanto a filha fica em casa, para cumprir as obrigações diárias.
Ao ir visitar a minha irmã nesse dia, oiço gritos vindos da aldeia. Uma mulher grita que morreu uma criança e fala de Nadia. Corro até perder fôlego, perguntando‑me o que se passa, e deparo com o drama.
‑ Eu estava a tomar conta do bebé, em casa, quando chegou uma mulher a dizer que tinha visto as sandálias da miudinha junto do poço e um bidão a flutuar na água. Deitámos a correr com a Salama, já havia multidão. Estavam ali todos a vasculhar na água com paus. Ninguém sabia nadar. Perguntei a Salama se devia ir. Ela disse‑me que sim. Tinha medo do que fosse encontrar, mas talvez houvesse uma hipótese de salvar a pequena. Então mergulhei de cabeça.
‑ No poço?
‑ Sim, eles tinham remexido a lama com os paus, eu não via nada, procurei às apalpadelas. Da primeira vez tive de voltar a subir para respirar, tinha revolvido ainda mais lama, aquilo era asfixiante. Da segunda vez toquei em qualquer coisa lá no fundo, era mole. Era a pequena. Trouxe‑a de volta para a superfície e os homens puxaram‑na. Os olhos estavam abertos e tinha espuma na boca.
‑ Estava morta?
‑ Acho que sim, mas tentei fazer os movimentos que me ensinaram na escola, virei‑a para a obrigar a expelir a água, fiz‑lhe a respiração boca‑a‑boca, estava convencida de que ia conseguir. Foi um velho que me veio deter. Eu teria continuado assim durante horas, estava a entrar em histeria.
A morte daquela rapariguinha abalou a Nadia, tanto mais que a mãe estava ausente: tiveram de mandar alguém preveni‑la, quando voltava do trabalho. Quando chegou, a correr, dominada pela dor, quase tiveram de lhe pegar para a obrigar a entrar no quarto onde o corpo estava deitado.
No enterro, teve de se manter à distância. Uma mulher não tem o direito de assistir a uma inumação, nem mesmo à do seu próprio filho.
A pequenina tinha oito anos. Fizeram dois buracos perpendiculares. Depuseram o corpo da criança num, encheram o outro de areia, cimentaram‑nos por cima e oraram. A viúva fitava‑os de longe, com o bebé nos braços.
Ao voltar para casa, caída a noite, pensava no caminho que aquela criança morrera pura. Não tinham tido tempo de a casar.
A Nadia está grávida. A minha irmã mais nova está à espera de um filho.
Escrevemos mais de cem cartas à mamã, cem garrafas perdidas no deserto. É 1983, ano de 1361 da Hégira... o terceiro ano da nossa prisão. E a minha irmã está grávida.
Samir, o seu "marido", trabalha na Arábia, numa perfumaria. Gowad está em Inglaterra. Ambos mandam dinheiro à família. Só voltam ao país de seis em seis meses.
O ventre redondo de Nadia testemunha a última vinda de Samir. Gowad escreveu de Inglaterra para lhe dizer que quando Samir tiver juntado o dinheiro dos bilhetes ela poderá ir ter com eles.
Sempre a mesma história. Abdul Khada prometera‑me a mesma coisa. Imaginam que a partir do momento em que estivermos grávidas deixaremos de nos bater contra eles, que nos instalaremos como boas esposas árabes. Sem dúvida... mas talvez não... Quantas vezes me fiz a pergunta, sem lhe conseguir responder com certeza.
A Nadia não parece de todo assustada perante a ideia de dar à luz uma criança naquela aldeia. Está calma ao anunciar‑me a nova, a sua barriga cresceu, a sua cara não exprime nem desespero, nem esperança.
‑ Pronto, estou grávida ‑ limitou‑se ela a dizer.
É muito forte, em determinadas perspectivas. Eu não tenho a sua calma. Mas eles dominam‑na mais facilmente. Estou certa de que sem mim teria esquecido o seu inglês. É por minha causa e comigo que continua a falá‑lo. É muito importante conservar a memória da nossa língua, para afirrmar a nossa resistência. É difícil continuar a pensar em inglês, falando árabe todo o dia há três anos. Por vezes, quando conversamos as duas, a Nadia mistura uma palavra árabe na sua frase, sem dar atenção. Facilmente se poderia tornar no género de mulher que eles querem. Dou‑lhe um safanão sempre que me dou conta disso.
‑ Tem cuidado... já não estás a resistir. Temos de continuar a ter esperança, de continuar a defender‑nos.
‑ Mas isso é o que eu faço...
‑ Faze‑lo para mim, à minha frente. Mas com eles?
As nossas aldeias ficam apenas a meia hora de caminho uma da outra, mas essa distância estabelece uma fronteira terrível entre a minha irmã e eu. Se eu não estivesse aqui, se não me obstinasse em vir vê‑la, em roubar alguns minutos ao tempo de trabalho, só para falar com ela, deixar‑se‑ia espezinhar sem reagir.
A sua gravidez assusta‑me. A lembrança dos partos sucessivos de Bakela não é encorajante. No chão da casa, com uma navalha de barba para cortar o cordão... sem medicamentos, sem médico.
Nadia não parece sofrer. Nem uma náusea, nem um simtoma aborrecido, e Salama mostra‑se simpática, deixa‑a descansar, poupa‑lhe certas obrigações. Por volta do sétimo mês, Nadia é mesmo autorizada a ir ver‑me a Hockail.
Ganhei o hábito de fazer eu mesma o percurso para lhe evitar andar. Mas Abdul Khada, sempre atento e desconfiado, mesmo a partir da Arábia Saudita, manifestou‑se: "Não vás com tantafrequência a Ashube. A tua irmã não precisa de ti, tens de ficar em tua casa." Continua a temer‑me e imagina que estamos a engendrar a nossa fuga. Por princípio, não gosta de me saber fora de casa, excepto para ir fazer compras ou determinados trabalhos, e nunca sozinha. Em Hockail, dispõe de um exército de espiões para o informar do meu comportamento. Não só existe toda a sua família de primos, sobrinhos, irmãs, etc., mas também os outros aldeões que têm medo dele. Enquanto que em Ashube não há qualquer controlo real.
Quanto mais me habituo à vida árabe, mais rigoroso ele se mostra. A partir de agora, só estou autorizada a ir a Ashube um dia por semana. "Se desobedeceres, hei‑de sabê‑lo e quando voltar castigar‑te‑ei. " O cúmulo é que a maior parte das vezes faço o que ele quer e o que ele diz. Mas no fundo de mim, nunca abdiquei. Nunca deixar de o odiar.
Ao nono mês de gravidez, Nadia preocupa‑me. Cansa‑se a vir ver‑me. Suplico‑lhe que descanse. O caminho é muito difícil para ela. Essa decisão é‑me também penosa a mim, pois vejo‑me isolada dela na altura em que o bebé vai nascer.
Esta manhã cedo, uma vizinha de Nadia veio cá a casa anunciar a Ward que a minha irmã dera à luz um rapaz durante a noite. Ninguém me preveniu, ninguém me veio buscar. Atiro‑me à mensageira.
‑ Deviam ter‑me avisado!
‑ Mas aquilo passou‑se durante a noite, era já muito tarde, sabes perfeitamente que nós não saímos à noite.
‑ Não havia um homem convosco?
‑ Que um homem viesse ver‑te? A tua casa? à noite?
Eu pedia, na realidade, o impossível. Que um homem me tivesse vindo avisar do parto da minha irmã, em plena noite, à própria casa de Abdul Khada! Se este último o tivesse sabido! Ter‑me‑ia morto! Para uma mulher, é inaceitável encontrar‑se com um homem numa tal situação. Seja qual for o pretexto ou a necessidade.
Saio a correr, com Ward a gritar atrás de mim.
‑ Espero que estejas de volta ao meio‑dia!
‑ Nem pensar, não volto hoje. Fico com a minha irmã!
Corro o caminho todo até Ashube, até casa de Gowad, até ao quarto de Nadia. Chego sem fôlego ao meio das mulheres de visita. O bebé está numa rede atada à cama da mãe. Rompo em soluços.
‑ Pára de chorar, Zana, vais fazer‑me chorar também.
Creio bem estar doente de novo. A febre é certa, já quase não tenho voz.
‑ Conta‑me, sofreste? Tiveste dores?
‑ Tive dores, ontem à noite, mas não demorou muito. Salama correu à aldeia para ir buscar uma velha que conhece e que está habituada aos partos. Conversou comigo, ajudou‑me muito bem. Não tive medo. O bebé veio uma hora mais tarde.
O bebé é normal. Um rapazinho, um anjo. Fico fascinada ao vê‑lo dormir, envolto em roupa de linho, naquela cama suspensa do cabo do Mundo. A minha irmã tem um filho... Não consigo acreditar. Olho para o calendário, para registar esse dia: 29 de Fevereiro de 1984, ano bissexto.
‑ Ele só festeja o aniversário de quatro em quatro anos, Nadia!
Quatro anos. Ao dizer isso, assalta‑me um calafrio. "Onde estaremos todos nós dentro de quatro anos... " Se Gowad mantiver a sua promessa, a Nadia talvez volte para Inglaterra com o seu bebé. Ver a mamã, fazer‑me sair daqui. No fundo, ter um filho talvez seja obter a liberdade. Mas Abdullah continua sem melhoras. Parece difícil que eu venha um dia a ser mãe. Aliás, não penso....... Não pensava, até hoje.
‑ Como é que lhe vais chamar?
Uma das mulheres propõe diferentes nomes e Nadia escolhe Haney. É bonito Haney, assemelha‑se um pouco a Honey, "mel" em inglês. Um rapazinho cor de mel.
Apesar das ameaças de Ward, fico com Nadia durante três dias. Dormindo com ela, dela tomando conta, e do bebé. Quero ter certeza de que está tudo bem, de que não está doente, nem a criança. Ora, sou eu que adoeço. Logo no dia seguinte, não consigo levantar‑me e é Nadia quem me dá de comer à colher, ao mesmo tempo que trata do filho. Ao segundo dia, dá‑lhe peito. É mais uma mulher que eu tenho debaixo dos olhos. Uma mulher autêntica, adulta, uma mãe, que adora o seu filho e que agora adivinho mais vulnerável.
Se falo no regresso a Inglaterra, ela responde:
- Agora, se nos formos embora, eles tiram‑me o Haney. Não quero. De resto, não descobriste nenhum meio de fugir. E agora, com o bebé, isso é impossível...
‑ E se o Gowad te desse autorização para ir para Inglaterra com o Samir?
‑ Sem o Haney, não ia. E ele não há‑de querer que eu o leve.
A ideia de ser separada do filho aterroriza‑a. Eles ganharam, eu perdi. Eles dispõem do meio de a impedir de fugir comigo, se eu encontrar uma solução.
Quando estávamos as duas juntas, afastávamo‑nos das outras mulheres, para falar de "antes". As velhas recordações de Inglaterra, as farsas na escola com as amigas. Isso era a única coisa que ainda fazia sorrir a minha irmã. E sonhávamos com a fuga, fazíamos planos mais loucos uns que os outros. O mais louco de todos era partirmos as duas, pela estrada, ir até ao mar e embarcar num barco como passageiras clandestinas... Completamente irrealista.
A única esperança real consistia em escrevermos uma carta à mamã. Em descobrir o meio de essa carta lhe chegar enfim. Para que ela soubesse. Pois não tínhamos qualquer ideia do que ela pensava da nossa situação. Se tivesse acreditado nas mentiras gravadas na cassete, no início da nossa estadia, podia imaginar que não quiséssemos voltar para ela. Que tínhamos realmente decidido viver aqui e abandoná‑la. Essa possibilidade afigurava‑se‑nos difícil. Tínhamos de acreditar que ela tentava encontrar‑nos, como tentara encontrar Ahmed e Leilah.
Só que não pôde fazer nada por eles. Continuam no Iémen. Muito gostaria de voltar a ver o meu irmão, de resto, e de conhecer a minha irmã, mas para isso há que aguardar a boa vontade do "senhor Abdul Khada".
Grande notícia. Um médico estabeleceu‑se em Hockail. Diz‑se na aldeia que é um homem da região que estudou no estrangeiro e decidiu regressar ao seu país para ajudar os seus habitantes, para os tratar, para os famíliarizar com a medicina moderna.
Para mim, essa é uma grande notícia, pois sofro de malária com cada vez maior frequência. Não durmo. Os meus olhos recusam‑se a fechar‑se durante noites inteiras. As dores no peito voltam regularmente.
Ele não fala inglês. Estudou algures que não em Inglaterra; na Alemanha, creio. Mas eu falo suficientemente o árabe para me fazer entender.
Ele dá‑me somniferos para dormir e comprimidos contra a dor. Tem ar de ser bom, amável, simpático. Sempre vestido com a sua longa bata branca, os cabelos muito curtos, magro e de tez bastante clara para um iemenita, mantém‑se muito direito, com ar profissional, respeitável, e é, de resto, respeitado.
A sua casa é realmente a mais bonita da aldeia. O pai é um dos sábios mais importantes da comunidade Hockail, que a construiu. É completamente diferente daquelas em que nós vivemos. Na realidade, é como uma casa da cidade que tivesse sido instalada na aldeia. Muitos tapetes, um frigorífico, uma televisão. Suponho que tenha um gerador para pôr tudo aquilo a funcionar, pois continua a não haver electricidade na região. A ideia de um copo de água fresca... de uma tigela de leite que não esteja morno nem coberto de moscas...
A cada visita, observo um pouco melhor aquele homem jovem, com cerca de trinta anos, formado numa vida mais moderna. "Talvez ele oiça a minha história..." É afável. Um dia precipito‑me:
‑ Nunca recebi noticias da minha mãe... Se eu lhe desse uma carta para ela, podia pôr‑ma no correio em Taez?
‑ Tens por certo alguém da família que possa fazer isso por ti. Pôr uma carta no correio não é complicado.
‑ O que eu queria era que a pusesse num verdadeiro marco de cartas, num marco público, percebe?
‑ Porquê?
‑ Porque... porque tenho mandado muitas cartas, mas o Abdul Khada, o meu... sogro... talvez as não tenha mandado... Ou então foi o agente dele em Taez que o não fez... Por favor...
‑ Eu não quero interferir numa história de família, Zana, não tenho esse direito. Isso não me diz respeito...
De tal forma voltei a insistir todas as visitas... que um dia ele, enfim, me respondeu:
Isso é assim tão importante para ti?
Vê as lágrimas nos meus olhos. Já me conhece bem, sabe que me casaram à força e que estou sempre doente, ao ponto de há anos não dormir de noite.
‑ Bom. Vou fazê‑lo por ti. Ponho‑a no correio em Taez, às escondidas. Escreve à tua mãe que ela te pode responder para o meu apartado postal.
Salto de alegria. Encontrei finalmente uma ajuda, pela primeira vez desde há quatro anos. Um circuito que me permite transpor Abdul Khada e o seu agente Nasser Saleh, que está forçosamente feito com ele.
‑ Nadia... Consegui... Arranjei um meio de prevenir a mamã... estou confiante...
Uma chispa de esperança nos seus olhos é a mais valiosa das alegrias.
‑ Isso é verdade? Achas que ele to faz? É realmente verdade?
E voltamos a sonhar com a fuga.
Estou ainda assim aterrorizada com a ideia de que alguém na aldeia, ou em Taez, abra a carta, a leia, dela dê a saber a Abdul Khada. Nesse caso, seria de novo espancada, por tê‑lo traído. E depois, como escrever aquela carta? Sob que forma? Não posso contar tudo, assim, preto no branco. Há que utilizar um código, por segurança, na esperança de que ela consiga ler entre as linhas e compreenda que grito por socorro.
Ignoramos onde está o nosso pai, o que faz, onde trabalha. Se for ele a abrir a carta, está tudo estragado. Há que insinuar as coisas, escolher palavras que só ela compreenda, que não chamem a atenção de mais ninguém. Fechada no meu quarto, sob o pretexto de que tenho febre, procuro onde escrever e dou finalmente com um velho livro de exercícios de árabe que Abdul Khada me dera, quando nos encontrávamos no restaurante de Hays. Rasgo com cuidado uma página de costas em branco.
"Querida mamã... "
A minha mão treme, o meu coração bate. Dentro de uma prisão, a esperança é como uma febre. Transpira‑se, com a cabeça prestes a rebentar.
"A Nadia está bem, tem um rapazinho chamado Haney, que tem agora dez meses e é muito bonito. Tens de o ver. Estou a ser tratada pelo médico. Podes responder para o número de apartado postal, éo dele. É muito simpático e trata‑me muito bem. Temos umas saudades tremendas, minha querida mamã. Pensamos em ti todos os dias. Por favor, responde depressa."
Volto a ler o que escrevi. Se alguém abrir aquela carta antes dela, não poderá dizer que me queixo. Mas se a carta lhe chegar às mãos, saberá o essencial.
Com o envelope escondido debaixo do vestido, tenho de esperar mais alguns dias antes de pedir para ir ao médico. Ward não desconfia, estou com má cara e a ansiedade domina‑me os olhos, coisa que ela pode tomar por febre. Que é. Malária e esperança misturadas. Faço o caminho das mulheres a correr. Por detrás da casa, os macacos fazem‑me má cara, as serpentes podem sibilar nos valados, as pedras martirizar‑me os pés, transporto a esperança em mim, como um fogo de artifício invisível.
No caminho de volta, as lágrimas continuam a correr. Chorar. Quando estou sozinha, consigo chorar horas. Sou uma fonte de lágrimas inesgotável desde há quatro anos. Todo aquele tempo imóvel conhece finalmente uma palpitação. Uma razão. A partir desse dia, espero alguma coisa, os dias, os minutos, têm um sentido. A carta viaja... Amanhã, estará em Taez. Cairá dentro de um daqueles marcos de correio a que nunca consegui chegar, nem sequer ver.
A minha carta. O meu segredo. A minha libertação.
Esta noite sento‑me ao lado do velho cego. As rapaces descrevem o seu eterno círculo no céu escuro, lá em cima, vigiando as montanhas, os campos de milho, à espera. Por vezes um ligeiro grito anuncia uma presa. De vez em quando, a ave torna a subir a grandes golpes de asas, com uma serpente suspensa no bico.
‑ Paciência,... um dia hás‑de voltar para o teu país.
"Se tu soubesses, velho... "
Esperei duas longas semanas, terríveis. Hoje, a mulher do médico veio até cá a casa e Ward recebeu‑a muito educadamente. Estão no quarto dela. Eu espero no meu, arranjando as unhas e fumando cigarro atrás de cigarro. Ward sai finalmente e vem falar comigo.
‑ A mulher do médico diz que recebeu uma carta para ti e que tens de ir buscá-la ‑ murmura ela numa voz filtrada.
O meu coração dá um tal salto que perco a respiração durante um segundo. Tenho de me manter calma. Ela está a observar‑me. Se suspeitar de qualquer coisa, não tardarão a surgir os aborrecimentos. Por ora, está impressionada com o facto de a mulher do médico ter vindo até aqui, sem outra razão para além disto: uma carta para mim... uma carta... uma carta. Canto‑o mentalmente, em silêncio, em todos os tons.
Na primeira ocasião, entre as tarefas habituais, corro à aldeia e chego a suar a casa do médico. Ele estende‑me um envelope. É a letra da mamã! Depois de tanto tempo... Como é que de repente se tornou tão fácil chegar até ela, quando há anos que isso era impossível?
O médico sorri‑me gentilmente:
‑ Queres ficar aqui a lê‑la?
‑ Não, obrigada, prefiro ir‑me embora.
Ir para qualquer lado, abri‑la às escondidas, e sobretudo entregar‑me ao choro, mas não diante dele. Escondo o envelope por baixo da túnica, para sair, ao mesmo tempo que lhe agradeço. O meu coração balança de novo, o sangue bate‑me nos ouvidos durante a escalada do caminho para casa. Tateio‑a através do tecido, àquela carta em que ainda não acredito. Alguém me vai saltar em cima para ma tirar, ma arrancar, rasgá‑la em bocadinhos. Revejo Abdul Khada rasgando assim, malevolamente, as fotografias em Hays. Ele não está cá, nem Abdullah, nem Mohammed, nenhum dos homens cá está, nesta altura. Quanto a Ward, não me faz medo, não se há‑de atrever a isso.
Fechada no meu quarto, abro‑a finalmente, enquanto as ideias se atropelam na minha cabeça. Desta vez, a mamã sabe onde estamos, depressa havemos de voltar para casa. As outras cartas nunca chegaram até ela. Nunca. Eles destruiram‑as, mas esta... tenho‑a comigo.
Choro de tal forma que não me consigo concentrar nas palavras. Ela parece ter compreendido desde o princípio que alguma coisa não estava bem. A cassete que nos obrigaram a gravar ao princípio foi recebida pelo meu pai; a mamã não a viu, até ao dia em que o meu irmão Mo a roubou para lha dar. Nesse dia, ela adivinhou, como eu esperava, no tom das nossas vozes, que nos obrigavam a dizer que éramos felizes e que estava tudo bem. O nosso pai ficou furioso com Mo. Disse‑lhe para escolher entre ele e a mamã; Mo escolheu a mamã e nunca mais voltou para casa dele.
A carta é longa, confusa, cheia de perguntas e de notícias. Tento triá‑la, pôr‑lhe ordem, mas não domino a cronologia dos factos e todas aquelas informações me enebriam... Pergunta como estamos, como vivemos, se vimos Leilah e Ahmed. Depositei tanta esperança naquela carta que estou desiludida. É manifesto, ela não se dá completamente conta da situação. Ignora tudo da escravatura que esta vida representa, daquilo que Nadia e eu sofremos. Apercebo‑me de que não será fácil, de que terá de decorrer muito tempo antes que possamos sair do Iémen, muito mais do que eu imaginara enquanto esperava pela carta.
"Onde estão os nossos passaportes? Como reavê‑los? Como chegar a Sanaa para aí apanhar o avião, se a mamã nos mandar bilhetes... E depois, estamos casadas, como provar o contrário?
A Nadia já tem um filho... há que partir com Haney." Todas as dificuldades me surgem de súbito claramente, reais, porventura intransponíveis.
O verdadeiro alívio está em ficar com a certeza de que ela nada tem a ver com esta história. O nosso pai casou‑nos e vendeu‑nos sem lho dizer, evidentemente. A mamã gosta de nós. Nunca disso devíamos ter duvidado. A armadilha era enorme, mas funcionou com uma simplicidade incrível. Tal como da primeira vez, em relação a Leilah e a Ahmed. A única diferença é que eles eram pequenos, incapazes de oporem a menor resistência no exílio. Enquanto que eu me defendi como uma danada.
Desde que aqui estou, julguei compreender uma coisa: os Iemenitas, que não obstante não gostam de estrangeiros, procuram casar com inglesas na esperança de em seguida conseguirem os documentos para eles. Esse é sem dúvida um elemento do mercado de que nós fomos a moeda de troca. Por outras palavras, foi aos nossos passaportes que o nosso pai vendeu ao mesmo tempo que a nós. É um ente repugnante. Era capaz de o matar por isso. Quero que pague. Juro sobre a minha própria cabeça que há‑de pagar.
O plano desenha‑se agora na minha cabeça. É inútil escondermo‑nos, pelo contrário. É preciso que toda a gente saiba que estamos em contacto com a nossa mãe, que temos contactos com o nosso país, que sabem onde estamos. O ataque é a melhor das defesas, a transparência a melhor das armas.
Logo no dia seguinte, corro até Ashube, no nariz de Ward, para ir mostrar a carta a Nadia. Ela vira‑a e revira‑a nas mãos arruinadas pelos trabalhos de escrava, leva‑a à boca, beija‑a...
‑ Eu sabia... eu sabia...
Temos as duas um pequeno segredo, uma pequena magia. Desde a infância que quando estamos para receber uma carta ficamos impacientes. Isso acontece‑nos regularmente e cerca de uma semana antes, às vezes mais. Há alguns dias falara disso à minha irmã e ela respondera‑me "eu também". Pode parecer estranho, mas quando nos mantêm aprisionados esse género de premunições ganha uma importância excepcional.
Juntas choramos de alegria, abraçadas uma à outra.
‑ A mamã vem aí. Agora, façam‑nos eles o que nos fizerem, isso já não tem importância. A mamã vem aí...
A partir de hoje, vou escrever sem parar. Combinamos os textos e sou eu que escrevo. Escrevo os nossos sofrimentos, a nossa escravatura, a vida pavorosa que aqui levamos, sem ninguém com quem falar, sem amor, sem um único ente que nos compreenda e se indigne perante as mesmas coisas que nós. Sem liberdade, sem sequer o direito de percorrer um quilómetro sozinhas.
As cartas partem e chegam agora regularmente. Por vezes, a mulher do médico trá‑las, com bastante liberdade, cá a casa. Ninguém tenta subtrair‑mas. O médico é um homem suficientemente instruído e de boa família para nada temer aqui da tribo de Abdul Khada, nem mesmo de Abul Khada em pessoa. Encontrámos por fim um aliado suficientemente forte para nos ajudar.
O velho tinha razão, paciência... Agora, quando o ajudo a comer, o que leva muito tempo, pois ele já não tem dentes, sorrio‑lhe. Mesmo que ele não veja nada. Sobretudo porque não vê nada. Sorrio à esperança.
Abdul Khada é em breve informado do que se passa na sua ausência. O rumor. Mas é por demais astuto para mostrar os seus verdadeiros sentimentos perante aquele desafio à sua autoridade. Escreve‑me, dizendo que está "contente por saber que recebi uma carta da minha mãe", como se não fosse nada, pedindo‑me mesmo notícias da sua saúde! Agindo como um velho amigo da família. Na realidade, de nada me pode acusar, já que ele mesmo fingiu ter enviado todas as minhas cartas anteriores. A minha centena de cartas, durante quatro anos.
Sinto pela primeira vez que conseguimos fazer‑lhe frente. Mas a nossa vida não mudou, no entanto, e não vejo o que pudesse mudá‑la no imediato. Carregamentos de água, de lenha, o moer do milho, o tratar dos animais, a lida... e vá de recomeçar.
A mamã escreve‑me hoje que a primeira vez que ouviu falar da nossa situação foi num café. Um amigo do nosso pai disse‑lhe:
‑ Então as suas filhas casaram no Iémen?
Estefacta, a mamã perguntou‑lhe inocentemente porque é que dizia aquilo e ele respondeu tê‑lo ouvido na província de Maqbana, de onde é originário. Citou os nomes de Abdul Khada e de Gowad... Então, a mamã precipitou‑se para casa, louca de angústia, e, perante o facto consumado, o nosso pai respondeu:
‑ É verdade, e então? Eu arranjei os documentos para um casamento legal, elas casaram‑se com iemenitas, são iemenitas!
Subtraira as nossas certidões de nascimento das coisas da mamã, um dia em que ela estava a trabalhar no restaurante.
"Fiquei desvairada", escreveu‑me a mamã, "e gritei‑lhe: "Como é que pudeste fazer isso? Elas são umas crianças, uns bebés! São minhas. E são também tuas filhas, e tu vendeste‑as!"".
Ele, parece que sorriu, dizendo:
‑ Prova‑o
‑ Vou mandá‑las voltar!
Ele troçou dela, riu‑se‑lhe na cara:
‑ És sempre livre de tentar. Não chegarás a nada; elas partiram como os outros dois!
A mamã escreveu para o Foreign Office, como o fizera em relação a Ahmed e a Leilah. Responderam‑lhe que tínhamos na realidade duas nacionalidades, que o governo iemenita nos considerava actualmente cidadãs do seu país, dado estarmos casadas com iemenitas! A única forma de nos fazer regressar a Inglaterra era obter autorização dos nossos "maridos" para que nos concedessem um visto de saída.
A própria assistente social da Nadia quis ajudar a mamã. Escreveu para associações, à embaixada de Inglaterra no Iémen, a montes de gente. E a resposta era sempre a mesma:
"Lamentamos, não podemos fazer nada."
Carta após carta, sabemos tudo o que se passou em Inglaterra, de há quatro anos para cá. Preocupada por não receber noticias, a mamã começou por escrever para a morada postal de Gowad e de Abdul Khada, em Taez. Todas as suas cartas ficavam sem resposta, já que eram interceptadas. Então, informou‑se junto da embaixada em Saana, mas era impossível encontrar‑nos a partir de uma caixa postal. E esse era o único indício de que a mamã dispunha. Quem não conhece o Iémen talvez tenha dificuldade em compreendê‑lo. Mas aqui não nos podemos dirigir assim à polícia, ou a uma embaixada, e dizer: "Descubram as minhas filhas, Zana e Nadia Muhsen, estão desaparecidas no vosso país..." Estávamos perdidas, como quem se perde no mar.
Uma amiga da mamã, a sua melhor amiga inglesa, escreveu à rainha de Inglaterra para lhe pedir auxílio. Uma dama de honor respondeu simpaticamente para a informar de que o seu pedido fora transmitido ao Foreign Office... A mamã descobriu então uma associação, dirigida por um certo Nigel Cantwell, sedeada em Genebra, e chamada Defesa Internacional da Infância. A mesma resposta. O senhor Catwell não podia fazer nada, pois pelo casamento, nós tínhamos as duas nacionalidades... Em contrapartida, havia um ponto de vista legal acerca da questão: não se tendo a mamã e o nosso pai casado legalmente, a mamã era considerada, em princípio, como o nosso único tutor legal. Dado que não consentira nos casamentos das suas duas filhas menores, era possível que o governo iemenita pudesse deliberar a ilegalidade desses casamentos...
Estamos nesse pé. Agarro‑me a essa palha, que é a nossa única saída, disso tenho a certeza. Pois estes casamentos são ilegais. Como poderiam não o ser? Nunca nos pediram a opinião, nós nunca teríamos aceitado. Além disso, não assinámos nada, não participámos em qualquer cerimónia legal... e a nossa mãe ignorava onde nós nos encontrávamos. Para já não falar da constante violação que este pretenso casamento representa para ambas nós. Então?
A mamã mostra‑se sempre prudente nestas cartas, não nos quer dar demasiada esperança. Não tem ar de estar convencida de que o governo iemenita esteja disposto a perder tempo a resolver histórias de casamentos, ilegais ou não, em aldeias distantes. Ao mesmo tempo, teme por Ashia e por Tina. O nosso pai podia fazê-las sofrer a mesma sorte.
Com o correr das palavras e das notícias, a descrição dos combates por ela recentemente travados, adivinho que a mamã passou por uma grave depressão a seguir à nossa partida e que só reencontrou força para continuar ao receber, enfim, a minha primeira carta. Desde então, tem havido muitas e a nossa correspondência é agora regular. Relativamente regular, pois neste país pode decorrer um lapso de dois meses entre o envio de uma carta e a resposta. Mas isso não é nada quando comparado com os quatro anos de silêncio de que fomos vítimas. Recebo mesmo novas fotografias da família. A minha irmã Ashia tem uma filhinha! Separámo‑nos crianças... Tenho de contar pelos dedos para me dar conta de que ela está actualmente uma jovem mulher. Eu, em que é que me tornei? E no que é que se tornou a Nadia?
Abdul Khada voltou. Da viagem, trouxe uma máquina fotográfica e obriga‑nos a posar, à Nadia, ao pequeno Haney e a mim.
‑ Para mandar à tua mãe. Vai ver o neto, há‑de agradar‑lhe.
Julga por certo que este tipo de gesto pode levar a nossa afirmação de estarmos aqui detidas como prisioneiras a parecer ridícula. Em Inglaterra, eu vira fotografias de reféns que eram passadas na televisão, para provar que eles estavam vivos e se poder continuar com a chantagem. Isto, de outra coisa não se trata. Ele prova que estamos vivas. Sobreviventes, diante de uma parede leprosa por onde correm as lagartixas, retiradas numa montanha inacessível a um automóvel. Num país fechado como uma ostra.
Tenho de convencer a mamã a alertar os jornais, a televisão, a contar a nossa história a todos os órgãos de imprensa, a alertar os media. Ela não se atreve a fazê‑lo e firma‑se na ideia de que a legalidade está do nosso lado. Mas aqui a legalidade é outra coisa muito diferente.
É a lei dos machos.
Quando Abdul Khada levou Abdullah para Inglaterra para se submeter a tratamento, o meu pretenso esposo foi motivo de riso dos amigos do nosso pai. Casar a filha mais velha com aquele fedelho doente e magro? Estava em causa o orgulho dos machos e o nosso pai teve de se sujeitar às graçolas. Se Abdullah fosse um rapaz normalmente constituído, fosse qual fosse a sua idade nenhum dos seus amigos iemenitas dele teria troçado daquela forma.
Durante a sua estadia em Inglaterra, que não teve qualquer resultado em relação à saúde do filho, Abdul Khada teve a lata de se apresentar à mamã e de lhe dizer que nós éramos muito felizes no seu país. Aquela obstinação em desinformar, em pretender sempre o contrário da realidade, enraivece‑me mais do que qualquer outra coisa. Suportei muito, estou habituada a suportar, mas isto não. A mentira é um sistema permanente nesta família. Mesmo que roubassem um carneiro e o tivessem às costas, continuariam a mentir e a fingir que o carneiro não existia.
Ao fim de nove meses, Abdullah deixa Inglaterra. O seu visto expirara. De regresso a Hockail durante algumas semanas, parece‑me um pouco mais crescido, mas sempre igualmente magro. Quando olho para ele, instalado na minha cama, quando penso que esteve na minha terra, em Inglaterra, que viu Birmingham, a mamã, as minhas irmãs... fico capaz de o estrangular. Vai tornar a partir, por insistência do irmão, para Arábia Saudita, para uma operação séria. Que parta. É sempre um alívio não o ter diante dos olhos. Nunca percebi muito bem do que é que sofria, e isso não me interessa de todo. Mas oiço agora dizer que tem uma malformação de uma artéria que parte do coração, o que bloqueia o fluxo do sangue. Há que substituir essa artéria por um tubo de plástico e ele arrisca‑se a não sobreviver à operação. Abdul Khada diz que o filho tem cinquenta por cento de hipóteses de sobreviver.
à noite, rezo para que ele morra. Para ficar finalmente livre de deixar este país. Não hei‑de sentir‑me viúva deste falso marido, somente liberta dos grilhões que ele representa. Tanto rezo, sem vergonha, ao deus dos cristãos como ao dos muçulmanos. Em pensamento, sou uma assassina.
Durante dois dias, só penso nisso. Ao cozinhar os chapatis, ao meter a lenha no forno, ao esfregar o couro das vacas, ao pôr os bidões de água à cabeça. Ele que morra e eu tornarei a ver Inglaterra. Ele que morra e eu farei sair a Nadia deste buraco. Ele que morra e eu voltarei a viver.
Sobreviveu. O telegrama que Abdul Khada manda a Ward diz que está tudo bem, que ela não tem com que se preocupar. Alguns dias mais tarde, o senhor da casa está de volta. A convalescença do seu filho evolui bem, vai ficar algum tempo na Arábia, para depois voltar ao Iémen. Está tudo bem... Eles estão contentes.
Por fim, Abdulah regressa a Hockail. Agora, está curado. Abdul Khada espera que ele possa finalmente fazer um filho. Engordou de facto, parece menos débil.
Pela primeira vez na vida, não tenho o meu período. Também eu estou grávida. Ward está toda emocionada, Abdul Khada todo orgulhoso. Reflicto friamente sobre a situação. Ele sempre me prometeu que se ficasse grávida iria dar à luz a Inglaterra. Quanto à Nadia, isso não resultou, mas as relações de força são agora diferentes. Mesmo que o jogo seja cerrado, talvez eu tenha uma hipótese de ganhar. Estou por isso contente por estar grávida, contente por toda a gente estar contente. Não me incomoda usar o véu. Vou ser uma menina dedicada que se dá bem com a sua família, que está ligada à aldeia... Mentir, mentir sem descanso.
Também a Nadia está grávida, pela segunda vez. Haney, o seu primeiro filho, tem já dois anos. É magnífico, todo aos caracóis, com uns olhos risonhos.
O ano de 1986 será forçosamente o ano da nossa libertação. A mamã nisso se afadiga em segredo, em Birmingham. Bombardeio‑a com cartas, implorando‑lhe que descubra o meio de alertar a imprensa.
E enquanto espero arrasto a minha gravidez com menos facilidade do que Nadia. Ward não tem a mesma simpatia que Salama. Não é por esperar de mim um neto que sou dispensada das minhas obrigações. Tenho até mais trabalho do que antes, pois Bakela foi para Taez, ter com Mohammed. A minha "sogra" recusa‑se a ser ela a assumir o trabalho suplementar que a ausência de uma mulher em casa representa.
Invejo Bakela por ter deixado a aldeia. O nascimento do seu último filho, doente, que tem de ser seguido no hospital de Taez, levou Mohammed a decidir mandá‑la ir. Mais não é do que Taez, mas lá há casas modernas, água corrente, electricidade, pessoas...
Estou sozinha com Ward e os seus olhinhos mesquinhos. Sozinha com os velhos avós. Sozinha para fazer tudo. Por vezes, tenho a impressão de que vou cair de esgotamento. Com os rins doridos, as costas hirtas, tenho dificuldade em subir o carreiro, em carregar a água. à noite, o meu corpo não passa já de uma carga de sofrimento. Releio incansavelmente os meus romances. Se tenho o primeiro algo esquecido, nele torno a mergulhar. Ler inglês, pensar em inglês. Esperar. Certas noites, creio firmemente que o meu plano vai funcionar. Dar à luz em Inglaterra, junto da mamã, num verdadeiro hospital. Eles vão dizer que sim... Noutras noites, desespero. Eles nunca dirão que sim. Gostava de conseguir dormir sem este permanente pesadelo, esta dúvida, esta esperança, este desespero.
Torno‑me enorme, e com o calor intenso que reina nesta altura, sem chuva, sem trovoada, isso é dificilmente suportável. No poço, as outras mulheres surpreendem‑se por me verem trabalhar tanto e tão duramente no meu estado. Obrigar‑me a transportar a água, no meu oitavo mês de gravidez, é uma loucura, uma maldade por parte de Ward. Por isso, tentam ajudar‑me. Também a Nadia, cuja gravidez está um pouco menos avançada do que a minha.
Tento, tanto quanto possível, roubar alguns instantes de descanso na altura em que o calor é mais insuportável. Assim, estendo‑me alguns minutos na cama, numa tarde tórrida de Abril de 1986. Nunca esquecerei esse dia. De repente, oiço a voz de Amina gritar qualquer coisa do sopé da colina. Saio para ouvir melhor. Ela está em pé no telhado de sua casa, mesmo por baixo da nossa, e grita:
‑ Há uma encomenda para vocês, o Mohammed mandou‑a de Taez! Podem ir à aldeia buscá‑la?
Ward é a primeira a descer, pois eu preciso de tempo para percorrer o caminho a pique, que desce ao longo da colina. Com a minha barriga, isso é ainda mais perigoso. Finalmente, chego ao fim, para deparar com uma pequena multidão murmurante de aldeões. Passa‑se qualquer coisa de inabitual, eles deitam olhares na minha direcção, depois desviam a cara, falam ao ouvido uns com os outros... Bem posso olhar, que não vejo o Land Rover, que no entanto ainda devia lá estar se na realidade me tivessem trazido a encomenda.
Haola dirige‑se então para mim e diz‑me em voz baixa:
‑... A tua mãe está aqui... está ao fundo da estrada, à tua espera...
Eu fito‑a, sem acreditar, muda. Ela abana a cabeça e aponta‑me, na vertente da outra colina, um automóvel parado e duas pessoas em pé do outro lado do caminho. Uma mulher com uma blusa encarnada e um rapaz. É a primeira vez desde há muito que vejo uma mulher com os cabelos descobertos. Fico imóvel durante um instante. Olho fixamente, piscando os olhos perante a luz. Os batimentos do meu coração aceleram‑se brutalmente. As lágrimas correm‑me pelas faces, a emoção oprime‑me o peito e dá‑me um nó na garganta. Escorrego e estrebucho ao descer em direcção a eles. A mamã.
A mamã está ali, de pé, na berma da estrada. A blusa encarnada, é ela. De braços estendidos, recebe‑me contra o peito. Nunca senti semelhante emoção, uma tal alegria. Agarradas uma à outra, abraçamo‑nos até sufocar. Incapazes de falar, sacudidas pelos soluços. à nossa volta, as mulheres da aldeia aproximaram‑se e observam‑nos em silêncio.
É de tal forma irreal... a mamã aqui, no caminho de Hockail. Fito‑a, enfim, e ela diz numa voz abafada:
- Cumprimenta o teu irmão...
"É o Mo? Aquele rapaz? Aquele jovem?" Mudou tanto, em seis anos, que nunca o teria reconhecido. E eis que também ele chora.
A última vez em que o vi, mal me chegava à cintura, e agora é mais alto do que eu, só com treze anos. Estou tão orgulhosa dele, tornou‑se forte, musculado, a sua melena de cabelos pretos continua igualmente frisada. O Mo, o meu maninho, esmaga‑me nos braços.
O calor é escaldante e apercebo‑me de que a mamã já não pode mais, enquanto estamos para ali a abraçarmo‑nos debaixo do sol.
‑ Vem... vamos para a sombra...
Encaminho‑a para o carreiro, que ela tem mais dificuldade em subir do que eu, apesar dos meus oito meses de gravidez.
‑ Espera por mim... mas como é que tu fazes para subir tão depressa...
Parece que toda a aldeia nos seguiu. Olham‑nos fixamente, como animais curiosos, e eu já não sei o que dizer! Subitamente, encho‑a de perguntas:
‑ Como é que chegaste até aqui? O que é que se passou? Vieste buscar‑nos? Quando é que partimos?
‑ Deixa‑me respirar,....... já te explico... Onde é a casa? É aqui?
‑ Não, esta é a casa de Abdul Noor. A de Abdul Khada é ali...
Aponto o dedo para o cimo da colina.
‑ Tem de se subir até lá acima?
Revejo‑me da primeira vez, atrás de Abdul Khada, penando naquele mesmo carreiro pedregoso, aterrorizada com a ravina, esgotada pela viagem na pista sinuosa, exausta de calor.
A mamã não acredita nos seus olhos. Deixo‑a respirar um instante, depois arrasto‑a com Mo, ávida de saber, de falar, de estar com ela, ao abrigo dos curiosos. Amina traz‑lhe uma bebida fresca, que a mamã acha morna. Como fazê‑la subir até lá acima? Aquela casa é um ninho de águia. Eu já não tinha consciência disso. Precisamos de uma boa meia hora para subir; ao chegar, a mamã deixa‑se cair no banco em frente à casa, sem ter sequer a curiosidade de entrar.
Se ao menos eu tivesse sabido... Teria preparado bebidas, comida fresca, arranjado um sítio confortável para ela. Mas não há nada para além da habitual bolacha de milho. Nada que possa convir a alguém vindo de Inglaterra. Eu estou habituada, mas a mamã não consegue comer aquilo.
O que mais parece aterrorizá‑la são as moscas que lhe formigam por toda a pele, à procura do mais ínfimo espaço descoberto, que se nos colam aos olhos, nos zumbem aos ouvidos...
É estranho. Vejo de súbito aquelas coisas com um olhar diferent- por ela estar aqui, Por ela achar tudo aquilo insuportável, como eu ao princípio. E aquilo está tão distante do princípio. Tenho vinte e um anos, e aqui continuo com as moscas e o resto.
A mamã agarra‑me pela cintura, apalpa‑me o ventre com emoção. O que dizer... está para chegar um filho.
Haola ofereceu‑se para ir prevenir a Nadia a Ashube.
‑ Mas não a sobressaltes, ela está grávida e frágil. Diz‑lhe só para me vir ver, sem falar da mamã.
O Mo olha à sua volta com estupefacção e curiosidade. Os lagartos fascinam‑no.
Enfim no meu quarto, podemos conversar e a mamã tenta contar‑me tudo por ordem.
‑ Comecei a desconfiar de que alguma coisa não estava bem na altura em que vocês deviam voltar de férias. Quando percebi tudo, deixei o teu pai. Deixei também o café‑restaurante e instalei‑me sozinha com o Mo, a Tina e a Ashia. Só contactei aquele tal senhor de Genebra um ano a seguir à vossa partida.
‑ Falaste disto aos jornais?
‑ Tive medo dessa publicidade, Zana, medo de que vos levassem para outro sítio, que vos escondessem mais longe nas montanhas. Nessa época, o senhor CantweH não parava de escrever ao governo iemenita. Eu não queria fazer ondas e arriscar‑me a transtornar a sua acção.
‑ Ele não conseguiu nada?
‑ Nada. Respondiam‑lhe que o processo estava em estudo. Na realidade, ele não conseguia sequer situar o local em que vocês estavam. Não existe nenhum mapa da região. Além disso, havia manifestamente uma cumplicidade entre o governo e a polícia de Taez, que fazia tudo para que não pudéssemos procurar‑vos.Tentámos o impossível. Sem nunca obter a menor informação. Nessa altura, para azar, fui vitima de um acidente. Estava à esquina de uma rua, numa cabine telefónica de Birmingham, quando um automóvel foi chocar de encontro a ela. Fiquei muito ferida, fui operada, e o seguro propôs‑me uma indemnização de seis mil e quinhentas libras. Era pouco, podia ter conseguido mais processando‑os, mas o tempo urgia e eu precisava daquele dinheiro para vir até cá. Tinha decidido partir com o Mo. O senhor Cantwell encorajou‑me, dizendo‑me que se isso não tivesse êxito, alertaríamos a imprensa, já que nada mais haveria a perder. Só que tive de esperar perto de três anos para que essa indemnização de seis mil e quinhentas libras me fosse finalmente paga. Escrevi‑te tudo isso numa carta para a caixa postal de Abdul...
- Nunca recebi nada. Não sabia sequer que tinhas tido um acidente. Não voltaste a falar dele, depois...
‑ Já não sei. Escrevi tantas cartas.
- Nós também... Como é que fizeste depois para nos encontrar?
- Sabia o nome da aldeia, graças àquele que um dia me tinha dito que vocês estavam casadas... Mas o nome por si só não chegava, era impossível encontrar um mapa da região. Então, ao chegar a Sanaa, fui visitar o vice‑cônsul britânico, um tal senhor Coim Page. Ele desencorajou‑me, pura e simplesmente, com dureza e de uma maneira agressiva. Segundo ele, eu perdia o meu tempo, mais valia voltar directamente para Inglaterra. Repetiu‑me que a única forma de vos tirar daqui era obter a autorização dos maridos...
- Nem sequer te disse onde era Hockail?
- Não. Dizia nunca ter ouvido falar dela e de qualquer maneira não parava de repetir: "Mesmo que a senhora saiba o nome de uma aldeia, isso não serve para nada, não existe mapa da região!" Quando o deixei, aconselhou‑me a ter cuidado com o Mo: "Eles hão‑de querer certamente pôr também a mão em cima dele." Na realidade, não me queria ajudar.
O vice‑cônsul da Grã‑Bretanha... E eu que, quando estava em Hays, esperava conhecer um inglês, ser conduzida ao consulado...
‑ Compreeendi ‑ prosseguiu a mamã ‑ que tínhamos de nos desenvencilhar sozinhos. Como me tinhas falado numa carta do tal agente de Abdul Khada, Nasser Saleh, apanhei um autocarro para Taez. Tinha comigo uma fotografia que tu me tinhas mandado em que se via o Mohammed e a Bakela com os filhos. Tinhas‑me dito que ele trabalhava em Taez, numa fábrica de manteiga.
‑ O que é que fizeste com isso?
‑ Andei pela cidade durante três dias, falei com todos aqueles que falavam inglês, mostrava‑lhes a fotografia, perguntando‑lhes se reconheciam as pessoas, falando de Nasser Saleh... e finalmente dei com alguém que conhecia aquele homem. Levou‑me até ele e mandaram avisar o Mohammed. Aqui tens.
‑ O Mohammed foi simpático contigo?
‑ Chocado por me ver ali, mas amável. Mostrou‑se tão disponível quanto podia, considerando que eu já tinha chegado até ali... Tratou da viagem até aqui. Ligou para Abdul Khada, para a Arábia Saudita, e passou‑mo.
‑ Como é que ele estava? Furioso?
‑ Furioso e assustado. Queria saber o que é que eu tinha vindo fazer, pediu‑me para não criar problemas. Eu respondi que ignorava o que é que ele entendia por isso, não queria causar aborrecimentos a ninguém, que só tinha vindo visitar as minhas filhas. Então, mostrou‑se quase ameaçador, disse‑me que tinha uma carta do teu pai que o autorizava a levar‑vos para Marais, no golfo de Aden, se eu provocasse dificuldades. Eu tranquilizei‑o uma vez mais e ele desligou.
‑ Que lata! Perguntar‑te o que é que vens fazer ao Iémen! E o Mohammed, o que é que disse?
- Estava com ar de aborrecido. Disse‑me que o vosso pai vos tinha vendido por mil e trezentas libras cada uma ao pai dele. Foi a primeira vez que tive a prova disso. Quanto ao resto, marquei ainda assim pontos, a propósito do tal Nasser Saleh, precisamente. Quando me viu chegar, não estava tranquilo. Eu tinha apresentado queixa contra ele, por ter interceptado as cartas que dirigíamos umas às outras. O Mohammed disse‑me que ele tinha estado na prisão por isso e que tiveram de pagar para o libertarem.
- Eu nunca soube nada disso. O Abdul Khada não se gabava disso!
‑ Acho que o tal Nasser Saleh teve medo de voltar para a prisão quando me viu. Dizia
a toda a gente: "Esta é a mulher que me trouxe todos estes aborrecimentos." Apressou‑se a
prevenir o Mohammed... Enfim, passámos a noite em casa deles, conheci a Bakela e as crianças ‑ são simpáticos ‑ e no dia seguinte apanhámos um táxi para vir para cá. Este sítio é horrível. Este deserto, estas cabanas de terra, estas casas de pedra em ruínas. Por instantes, tive a
impressão de ir atrás de um bombardeamento. Esta região é um verdadeiro pesadelo.
- Porque é que o papá fez isto? Sabes? Pelo dinheiro? Para que nos tornássemos muçulmanas?
‑ Ele não é crente, nunca reza. Quanto ao dinheiro, não é a primeira vez que o arranja desonestamente. Ele pretendia que quando deixou os pais para ir para Inglaterra, estava a fugir a um casamento combinado pela família. Na realidade, tinha roubado o ouro à futura sogra para pagar a viagem... Soube‑o não há muito tempo... Anda sempre a correr atrás do dinheiro. Lembra‑te das suas dívidas em Inglatera, das multas que nunca pagava... Mas não foram as duas mil libras que o enriqueceram...
‑ Eu cá acho que foi para te magoar. Ele não gosta de ti, não gosta de ninguém, sempre teve uma única ideia em mente, desembaraçar‑se dos filhos. Primeiro o Ahmed e a Leilah, depois nós as duas... Não só se iliba de nos criar, com as despesas que isso comporta, como para além disso ganha dinheiro.
- Quem me dera vê‑lo morto! Que sofra tanto como vos fez sofrer!
A mamã disse tudo. Agora, posso contar o meu pesadelo. A mamã ouve‑me horrorizada. Cada pormenor a faz chorar por nós. Só agora ela se dá conta do que foram todos estes dias, estas semanas, estes meses, estes anos. Não paro de contar, uma verdadeira enxurrada. Até à chegada de Nadia.
Vou ao seu encontro para a preparar para o choque. Mas mal ouviu a palavra "mamã", precipita‑se para dentro de casa com Haney nos braços. É a minha vez de as fitar, de assistir ao reencontro. De chorar por vê‑las chorar. Haney olha para a avó com hesitação. Aquela senhora de blusa encarnada, com cabelos... é estranha para ele. Pobre pequenino, só tem dois anos e nunca viu Inglaterra. A sua mãe é como as outras, como eu, como todas as mulheres da terra.
Enquanto Nadia torna a percorrer com a mamã o mesmo caminho de palavras em tropel, ávidas, eu reflicto com amargura. Não será assim tão fácil partirmos. Por ora, a minha esperança está em frangalhos. Pobre mamã, não contactou com as pessoas devidas, não fez o escândalo necessário, que eu reclamo com todas as minhas forças.
Mamã, tens de avisar os media. É a única solução. Não temos nada a perder.
‑ Mas como, com que provas? O teu pai ficou com todos os vossos documentos... - Reouve mesmo a cassete que o Mo lhe tinha roubado...
‑ Vou‑te gravar outra. E desta vez falarei sem medo, direi a verdade, com todos os pormenores. Tu dá‑a ao tal senhor Cantwell de Genebra, para ele a transmitir à imprensa.
‑ O governo daqui vai provocar‑nos aborrecimentos, Zana.
‑ Que provoque. Que chovam aborrecimentos na cabeça de toda a gente. Quero que toda a gente saiba que estamos presas. Quero também que saibam que não somos as únicas. Há no Iémen miudinhas inglesas, que eu sei, que nunca mais tornaram a ver a família. Que casaram aqui à força, porque tinham um pai ou um tio iemenita. Eu quero um escândalo, mamã...
Sem esperar, pego no meu gravador e subo para o telhado da casa, para estar tranquila. O microfone é pequeno, é difícil começar. Por onde começar... Nem sequer encontro as palavras certas em inglês, e em várias ocasiões desato em soluços. Desligo o microfone várias vezes, sem ter conseguido dizer uma palavra.
Diante de mim, as montanhas, esta prisão de montanhas. Fixo‑as, cerrando os dentes para me acalmar. Para deixar de tremer e conseguir articular, enfim, uma frase adequada. "Bom dia senhor Cantwell... Chamo‑me Zana Muhsen... sou inglesa..."
A narrativa destes seis anos de angústia é penosa. Daquela maquinação que o meu pai levou a bom termo, poucas coisas sei. Nomes de pessoas, a soma paga, os papéis roubados, as falsas certidões de casamento. Paro regularmente para pensar, para não esquecer nada. Oiço os lobos uivarem. Ouvirá o senhor Cantwell os lobos uivarem, lá longe, em Genebra... É preciso terminar esta estranha carta sussurrada na noite. Deitar a minha garrafa ao mar, neste deserto negro.
"Senhor Cantwell... Não posso ficar aqui, vou‑me suicidar, prefiro morrer a ficar aqui. Isto é pior do que tudo o que se possa imaginar. Se visse os rapazes, aqueles a quem chamam os nossos "maridos", não acreditaria nos seus olhos. Crianças mais novas do que nós. Estou completamente petrificada de medo perante Abdul Khada, ele bate‑me quando lhe apetece, mesmo que eu não tenha feito mal. Obrigou‑me a gravar uma cassete a dizer que era feliz. Quando os jornalistas cá vierem, como espero, para nos fazer perguntas, terão de nos levar para fora da aldeia. Senão, as pessoas daqui vão tentar esconder a verdade, fá‑los‑ão ouvir a cassete da Zana "feliz". Falei obrigada, têm de acreditar em mim. Abdul Khada dirá também: "Eu ofereci‑lhe jóias e ouro." Eu não quero o ouro deles, quero a minha mãe. Não uso o ouro deles, atirei‑lho à cara. O meu pai tem de ser expulso de Inglaterra por nos ter vendido. Abdul Khada está neste momento na Arábia, manda‑nos vigiar porque tem medo. Todos eles têm medo. Mas pagam a toda a gente, mesmo à polícia, para obterem o silêncio. Ignoro como conseguiram fazer tudo isto sem incorrerem na menor punição. Têm de ser punidos, por nos terem obrigado ao casamento, por nos terem obrigado a ir para a cama com os filhos, por não terem mandado as cartas e por nos terem batido e feito trabalhar tão duramente que adoecemos. Tenha cuidado, eles são malévolos, eles não querem perder. No entanto, desta vez quero que eles percam, suplico‑lhe, quero que eles tenham vergonha. Deus puni‑los‑á no dia do Juízo Final, mas eu quero que eles sejam punidos hoje. Quero voltar para Inglaterra, simplesmente para a minha terra. Quero ser feliz. Se não me libertam, um dia mato‑me. A minha irmã sofre ainda mais. Não sei o que mais dizer. Agora é consigo, senhor Cantwell, que Deus o acompanhe, e esteja atento, eles ameaçaram a minha mãe. Ajude‑nos, por favor, suplico‑lho, têm de nos libertar. Adeus senhor Cantwell e boa sorte para todos nós. Adeus..."
Isso levou‑me duas horas, mas consegui finalmente gravar a preciosa cassete, que de ora em diante encerrará todas as nossas esperanças. Ao entregá‑la à mamã, peço‑lhe que me prometa uma coisa.
‑ Não a oiças, mama...
‑ Porquê?
‑ Há coisas aí dentro que não te contei, não quero que isso te perturbe, não vale a pena.
Aquilo que não disse diz respeito a Abdul Khada e às sevícias que me obrigou a sofrer. - É inútil que a mamã sofra ainda mais por causa disso. - Esconde‑a no teu saco, leva‑a, e tem muito cuidado, mamã... Não a entregues senão ao senhor Cantwell.
É extremamente difícil resumir assim seis anos de vida. Faltam as palavras para contar com exactidão, para dar a entender o sofrimento, a humilhação. E eu sentia‑me tão só, lá em cima, naquele telhado, face à noite do Iémen. Essa noite sinistra, desesperante, que só acaba para nos tornar a mergulhar na tristeza, logo pela madrugada.
Tenho de ir buscar água. A presença da mamã e de Mo exigem‑na em maior quantidade do que é hábito. Tal como eu, ao princípio, ela não se dá conta do trabalho exigido para se conseguir água, aqui. Tem tanto calor que se quer lavar incessantemente.
A mamã vai ficar duas semanas connosco. Uma semana comigo, uma semana com a Nadia. Não quer sair, nada lhe interessa lá fora. As mulheres da aldeia, em contrapartida, vêm vê‑la em massa. A casa está sempre cheia. Tagarelam, discutem entre si, cospem no chão sob o olhar incrédulo da mamã, que nunca viu coisa assim. Algumas mulheres fizeram um longo trajecto unicamente para lhe expressarem a sua simpatia e lhe dizerem quanto acham terrível perder assim as suas filhas. A sua solidariedade não é fingida. Infelizmente, só é tradutivel em palavras. As mulheres não têm qualquer poder. Apenas Ward persiste em ficar calada. Tudo o que consegue fazer nesta altura é reprimir a sua maldade natural na presença da minha mãe.
O meu irmão Mo está absolutamente furioso. Queria matar toda a gente. A começar pelo nosso pai e por Abdul Khada. Tem a revolta da sua idade, é um adolescente educado na Grã‑Bretanha, habituado à liberdade, ao direito. Creio que se ele tivesse encontrado Abdul Khada à chegada, as coisas teriam corrido mal; ora neste momento nós temos interesse em contemporizar, por muito difícil que isso seja, e eu tenho de lho explicar.
Durante a estadia deles aqui, tenho de ir à loja com maior frequência, para arranjar alimentos frescos. Salama autorizou Nadia a ficar connosco. Mas quando a minha família vai para Ashube, para casa de Gowad, Ward recusa‑se a deixar‑me ir com eles. O meu irmão queria discutir com ela. Aquela interdição parece‑lhe monstruosa.
- Ela não tem qualquer direito de fazer isto, Zana. Já só temos uma semana para passar aqui, manda‑a passear...
‑ ... Tu vais voltar com a mamã... eu tenho de ficar aqui, nesta casa com ela, não sei por quanto tempo... por muito tempo ainda. Se desobedeço... o Abdul bate-me.
‑ O Abdul Khada o quê? Bate‑te? Vou matar esse canalha...
‑ Mo, sê razoável... sou eu que te peço.
‑ Isto aqui é repugnante... olha, os mosquitos fizeram‑me borbulhas em todo o corpo... a mamã passa o tempo doente, isto está cheio de moscas e de bichos nojentos... Recuso‑me a deixar‑vos aqui. Tem de haver um meio.
‑ O único meio é vocês voltarem para Inglaterra e a mamã fazer aquilo que eu lhe disse. Ajuda‑a, Mo, ela tem medo, ajuda‑a a fazer um escândalo em Inglaterra, essa é a nossa única hipótese.
A tensão daquelas duas semanas é terrivelmente desgastante, tanto para a Nadia como para mim. Quanto mais depressa a mamã tornar a partir para Inglaterra, para trabalhar na nossa libertação, melhor será. Muito gostaria que ela ficasse para o meu parto... mas é mais importante que comece a luta. E também que parta antes do regresso de Abdul Khada. Temo esse regresso.
‑ Mamã, tens de te ir embora. Todos os dias contam.
‑ Sinto‑me doente por não poder fazer nada por vocês duas... doente Zana...
‑ Eu sei. Mas quando mais depressa lá chegares, mais depressa nós sairemos daqui, não te preocupes connosco. Esperámos tanto tempo que podemos aguentar um pouco mais. Não será o mesmo, agora que sabemos o que estás a fazer em Inglaterra.
‑ Mas esta terra... é horrível deixar‑vos aqui...
- Acredita em mim, era ainda mais horrível quando não sabíamos nada de ti.
‑ Como mudaste, Zana.
Ah, sim, mudei! Engoli todos estes anos como veneno, ele infiltrou‑se em mim, sou outra pessoa, uma mulher cheia de ódio e de vontade. Escapulir‑me. Sei agora o que querem dizer as palavras "enclausuramento", "prisão", "liberdade"... Adivinho as provações que nos falta sofrer. Esta criança que devo pôr no Mundo e o segundo filho da Nadia... A pressão que vamos viver, dia após dia, as ameaças, as promessas, as mentiras...
- Eu sou forte, mamã...
Organizámos‑lhes o regresso: um táxi deverá vir buscar a mamã e o Mo à aldeia. Na manhã da partida, desço a colina com eles, até à estrada. Nadia preferiu ficar em casa e despedir‑se da mamã na véspera. Não teria suportado a emoção da separação. Nadia é ainda uma criança... um bebé, como diz a mamã. Mas um bebé de vinte anos mãe de família.
Eis‑nos na estrada, o Sol nasce, vermelho, ameaçando já o calor do dia.
‑ Tens a cassete?
- Tenho.
Palavras que nos agarrem à esperança.
‑ Vou dá‑la a conhecer.
Há seis anos, despedia‑me eu da minha mãe no aeroporto de Heathrow e perguntava‑lhe:
"Mamã, se eu não gostar daquilo, posso voltar logo?..." "Claro, Zana..."
‑ Adeus mamã...
Sobem os dois para o automóvel, o motorista arranca e eu volto para a prisão, sem um olhar para trás, sem me voltar uma só vez para a nuvem de poeira que se afasta em direcção ao deserto. Se os vir partir, despedaça‑se‑me o coração.
Ao chegar ao quarto, deixo‑me cair em cima da cama e rebento finalmente numa torrente de lágrimas. "Porquê, mas porquê... devia ter subido para o carro, fugir, fazer um escândalo no aeroporto de Sanaa, exigir um avião, reclamar o embaixador... asilo político, sei lá..."
Sem passaporte, já não tenho identidade, não existo. Como é que um fantasma podia apanhar um avião para voltar para a sua terra?
Três dias após a partida da mamã, Abdul Khada está de volta.
‑ Onde está a tua mãe?
‑ Voltou para Taez.
- Para fazer o quê?
‑ Para organizar a sua viagem de regresso! Está de volta a Inglaterra!
‑ Disseram‑me que ela ficava cá uns meses.
‑ Decidiu partir.
Ele observa‑me com desconfiança.
‑ O que é que vocês fizeram na minha ausência?
‑ Nada de especial. Ficámos aqui.
‑ Vou a Taez, tenho de falar com ela.
Parte e regressa no dia seguinte, fervendo de raiva, acompanhado por Mohammed.
‑ Vocês traíram‑me! Eu tinha a certeza. A tua mãe disse que ia fazer tudo para que vocês voltassem para Inglaterra! O que é que tu lhe contaste? Mentiras?
‑ Eu não disse nada e isso já não te diz respeito.
Devia calar‑me, mas a tentação era grande. Vamos partir, tenho a certeza, a mamã vai fazer o que é preciso, portanto, Abdul Khada que se dane!
‑ Não hei‑de ficar aqui por muito tempo, acredita, deixarás de poder impedir‑me de voltar para casa!
A bofetada atinge‑me em cheio na cara, de frente, com uma violência mortífera. Mas eu encaixo‑a sem me mexer.
‑ Achas isso, hen? Tens a sorte de estar à espera de um filho, senão batia‑te com tanta força que ficavas dias sem conseguir andar!
Mohammed, que não dissera nada até aí, acrescenta friamente:
- Se a tua mãe quiser reaver‑te, terá de pagar por ti, como nós fizemos. É essa a lei.
Tive de sofrer durante vários dias este género de perseguição e de ameaças.
"Nunca hás‑de sair daqui..."
"A tua mãe tem de pagar..."
Bofetadas e ameaças são‑me indiferentes.
‑ Estou‑me nas tintas!
O parto aproxima‑se e já não há qualquer hipótese de eles cumprirem a sua promessa.
A visita da mamã, o seu regresso precipitado a Inglaterra representam para eles uma ameaça.
Todos os esforços obstinadamente despendidos para obter a sua confiança estão aniquilados.
Eu "traíra‑os". Resta‑me a perspectiva pavorosa de aqui dar à luz, como a Nadia, como Bakela.
Passados dois dias, sozinha em casa, rompem‑se‑me as águas. A quantidade de líquido
apavora‑me. Sou ignorante nesta matéria. Tenho as calças de algodão encharcadas. Mudo‑me e subo ao telhado para me lavar. As dores nas costas apoderam‑se de mim e enquanto esfrego a roupa apercebo‑me de que as roupas que acabo de vestir estão também manchadas. Sujei umas segundas calças... Só penso nisso. Vou precisar de mais água para as lavar... Portanto, dirijo‑me ao poço. Ao voltar, de bidão à cabeça, uma dor atroz apunhala‑me os rins. De respiração entrecortada, aguardo no caminho, não sabendo bem o que fazer. Depois, a dor dilui‑se e torno a partir. Chegada a casa, sinto uma nova dor, ainda mais forte, ao princípio das escadas. Não tenho senão uma ideia em mente: chegar ao telhado, encher o depósito e estender‑me no chão.
Estou ali há um bocado, sentando‑me e deitando‑me alternadamente, já não sabendo o que fazer daquela dor, como diminui‑la, respirando como um animal doente, sozinha, e completamente aturdida pelo sofrimento. Ward aparece.
‑ O que é que tens?
‑ Romperam‑se‑me as águas, tenho dores.
Ela corre de imediato lá para fora, ao encontro de Abdul Khada. Os seus gritos ecoam nas colinas. Depois, vêm os dois buscar‑me e descem‑me para o meu quarto.
Aí chegada, tenho medo. Vou dar à luz. Sinto‑o. Mas não grito como as outras mulheres, talvez tenha a sorte de sofrer menos, não sei. As dores são, no entanto, mais chegadas, cada vez mais violentas, mal me deixam tempo para recuperar o fôlego. Ponho‑me a chorar. Asfixio. A velha Saeeda vem reconfortar‑me. A sua mão enrugada segura na minha, murmura ladainhas, embala‑me como a um bebé. Ward aguarda.
Tenho de me levantar, tenho de andar, estou com demasiadas dores; estendida em cima da cama, respiro com dificuldade. Ponho‑me a andar de um lado para o outro, de costas vergadas pela dor.
As horas passaram, a noite caiu, Ward e Saeed alumiaram o quarto com candeeiros de óleo. As sombras nas paredes, o fumo acre, aquelas duas mulheres à espera. Ward não preveniu mais ninguém. Habitualmente, quando uma mulher dá à luz na aldeia mandam vir uma matrona, que está treinada, que conhece os gestos necessários.
Eu estou sozinha com uma sogra que me odeia e uma velha que não pode fazer grande coisa por mim, tão miúda, curvada e frágil. Detesta a nora, que a trata mal, e a sua simpatia vem toda para mim. Só tem a sua mão para me oferecer, mas eu agarro‑me a ela a cada guinada de dor. Faz‑me bem, a sua atenção calma, silenciosa. Agora, espia‑me nos olhos a dor seguinte e acompanha‑a. Enquanto que Ward voltou para a cozinha. A "puta branca" que dá à luz um filho do seu filho não parece interessar‑lhe mais por isso.
Deve passar da meia‑noite, as dores começaram ao princípio da tarde e aquela tortura não tem fim. Não tenho medo de morrer, só gostava que aquela criança saísse de mim, que desaparecesse com aquela dor pavorosa. "Quem vai cortar o cordão?" Aqui, dou à luz como um animal, como uma vaca a parir num estábulo.
Mas as vacas sabem desenvencilhar‑se sozinhas. Eu estou à mercê daquela mulher má e da sua navalha de barba.
Ward voltou e adormeceu em cima do banco. A velha está agachada a um canto, eu estou deitada no chão. Parece‑me que a dorjá não é tão forte. Tenho de fazer força, tem de ser, se eu não a ajudar, esta criança vai morrer dentro do meu ventre. Ponho‑me a gritar e Ward acorda.
‑ Ele vem aí...
‑ Não, - Já só virá amanhã... Não precisas de gritar assim.
Todo o meu corpo me diz que ela se engana. Desta vez tiro as calças manchadas, de novo manchadas, e faço força, com as duas mãos espalmadas no chão, o tronco meio levantado. É‑me difícil não escorregar. Saeeda ata uma corda à janela e estende‑me a outra ponta, para eu me agarrar a ela. Por um instante, um reflexo faz‑me fechar as pernas, e Ward grita‑me que as abra. Está furiosa, por detrás de mim.
A cabeça do bebé escorregou, eu senti‑a, e espero que Ward o segure, corte o cordão e mo mostre, como a vi fazer a Bakela. Mas ela fica para ali, de joelhos entre as minhas pernas, e põe‑se a gritar:
‑ Abdul! Traz uma tocha!
Não compreendo o que se passa, não sinto mais nada, para além da cabeça da criança entre as minhas pernas. Ponho‑me a gritar:
‑ O que é que se passa?
‑ O cordão está enrolado à volta do pescoço, estou a desfazê‑lo.
Respondeu sem olhar para mim. Abdul Khada segura a tocha por cima dela. Fecho os olhos de angústia e de humilhação por vê‑lo ali. O meu ventre é como que uma pedra silenciosa.
Depois sin- qualquer coisa, e na pouca luz, abro os olhos para a criança. Está inerte, Ward bate‑lhe para ela gritar. O primeiro vagido é fraco. Levanto‑me para a ver atar‑me o resto do cordão à perna, com a ajuda de uma linha de algodão.
‑ Porque é que fazes isso?
‑ Para ele não voltar para dentro do teu corpo. Agora tens de te lavar, a placenta tem de sair.
Obedeço, vacilante, apoiando‑me na avó. É então que distingo realmente a cara do meu bebé. Ela pô‑lo em cima da cama, num trapo, todo ensanguentado.
O meu bebé. Aquela coisinha minúscula é minha.
Invade‑me uma vaga de ternura e de orgulho. Depois, logo me invade uma vaga de ódio. Penso naquele que me fez aquele filho. Ele não é dele, não lhe pertence. Quem me dera poder apagá‑lo com uma esponja, para fazê‑lo desaparecer para sempre da minha vida. Fui eu, só eu, que fiz aquele filho.
‑ É um rapaz! ‑ anuncia Ward triunfalmente ao marido.
Este tem um ar encantado. Naquele segundo, apetecia‑me matá‑lo ali mesmo, acabar com ele de uma vez por todas no sangue. Há sangue por todo o lado, gosto a sangue na minha boca, cheiro a sangue no meu corpo e no bebé...
Ward leva‑o para o lavar, a avó esfalfa‑se a limpar o chão, à minha volta. Algo há que não corre bem. A placenta não sai. Mas estou tão cansada que me estendo de novo no chão e Ward cobre‑me com um cobertor. Abdul Khada fita‑me, malicioso.
‑ Então? Agora já temos uma lembrança tua. Já não precisamos de ti! Podes voltar para Inglaterra, se quiseres!
O seu sorriso é uma injúria. Aquilo que diz, uma monstruosidade. Mas se pensasse um só segundo que ele dizia a verdade, ir‑me‑ia imediatamente embora.
As duas mulheres obrigam‑me a levantar‑me. Tenho vertigens. Ward carrega‑me no ventre, sem cerimónias, mas não vem nada. Já não consigo aguentar‑me de pé, preciso de me deitar, mesmo que por isso tenha de morrer, quero estender‑me. Ward sai, dizendo que vai buscar uma mulher à aldeia para a ajudar. Abdul Khada sai com ela e eu fico sozinha com a velha Saeeda.
‑ Não tenhas medo... não tenhas medo.
Não estou com medo. Nesse momento, é‑me completamente indiferente morrer. Vou adormecer, vou partir. As ideias confundem‑se‑me, não vejo bem, o tecto dança, dança, dança...
Deixei de ter a noção do tempo.
Não me querem deixar dormir, puxam por mim, levantam‑me, obrigam‑me a manter‑me de pé. Umas mãos comprimem‑me o ventre e a dor é pior do que a do parto. É uma mulher da aldeia. Sinto‑lhe os dedos encurvados rebuscar o interior do meu corpo, incrustarem‑se nele. Quer arrancar‑me a placenta, e a dor infernal faz‑me retomar a consciência. Com um esgar de esforço no rosto, a mulher transpira. Um odor acre misturado com o fumo das tochas dá‑me náuseas. Faz apelo aos numes, aos génios, é necessário que de mim saia qualquer coisa, senão morro. É uma espécie de agonia o que eu vivo, em pé, durante uma meia hora, com aquela mulher agarrada ao meu ventre.
O desquitamento dá‑se finalmente, libertando‑me daquele saco imundo e ensanguentado. E de súbito, sinto‑me limpa. Ela lava‑me, depois lava o bebé, trazem‑me uma comida que sou incapaz de engolir. Quero dormir. Só dormir. Depois, só me lembro de uma coisa. Acordaram‑me para dar de mamar ao bebé. Era dia, eu não tinha leite, aquele corpinho que procurava o meu seio pareceu‑me enfezado, tão minúsculo, tão frágil.
‑ Tem de se chamar Mohammed!
Abdul Khada decidiu.
‑ Há‑de chamar‑se Marcus.
Ele encolhe os ombros, rindo. Seguro de si. Mas aquele nome é uma vingança e ele sabe‑o.
Um dia, Abdul Khada contou que tivera um filho de uma mulher inglesa, em Inglaterra. Era um rapaz e chamava‑se Marcus, mas já não podia vê‑lo. A sua mãe havia rejeitado Abdul Khada. Mortificado, só tinha uma recordação para mostrar desse filho perdido. Uma fotografia de uma criança com cerca de um ano e pele mate, como eu. Um bonito produto da mistura das raças. Mas de nacionalidade inglesa e o seu pai nada pudera fazer contra isso.
Sempre que eu pronunciasse o nome do meu filho, Marcus, despertaria a recordação dessa criança e a humilhação de Abdul Khada.
Dei‑lhes um filho de quem eles farão um iemenita. Jamais me deixarão levá‑lo para Inglaterra. Este rapaz é a grilheta que eles queriam pôr‑me, a marca indelével daquilo que me obrigaram a suportar. A consagração da violação.
Embalo‑o em inglês, falo‑lhe em inglês, para que as primeiras palavras que ele oiça na sua vida sejam as da minha língua. Também este Marcus tem uma mãe inglesa. Nunca deixarei de lho dizer. Mesmo que o combate seja desesperado.
Durante duas semanas, Marcus chora, tem fome e eu não tenho leite para o alimentar. Bem me posso espremer, não sai nada. Tenho de pedir a Ward para ir buscar leite à aldeia; graças a Deus, ela encontrou também uma tetina. Mas aqui não há cueiros. Sempre que Marcus se suja, tem de ser mudado. É enfaixado em panos de linho e as barrelas fazem‑se várias vezes por dia.Ward não me ajuda. Depois do parto não varreu sequer o meu quarto. Ao terceiro dia, tendo‑se tornado a poeira insuportável, tive eu mesma de o fazer.
Penso em Inglaterra, nos supermercados cheios de produtos para bebé, nos pacotes de fraldas, na água‑de‑colónia que cheira a bombom. Nas banheiras de plástico azul e rosa, para lhes dar banho na água morna, com patinhos a boiar. Eos bonitos babygrows, de todas as cores, os sapatinhos, os babetes... os boiõezinhos de morango ou de maçã...
O Marcus não tem nada disso, dorme numa rede presa à minha cama, um montículo de trapos que é necessário defender incessantemente das moscas. Lavo a rede todos os dias, os trapos várias vezes por dia, o que em nada me dispensa das tarefas habituais.
Todos eles lhe chamam Mohammed, obstinadamente, e eu, obstinadamente, chamo‑lhe Marcus.
‑ Tu não tens pai, Marcus... és só meu.
Felizmente, é um rapaz. Se tiver de o abandonar a este país, não sofrerá tanto como uma rapariga. Isso é um verdadeiro alívio. Se tivesse tido uma filha, teria temido demasiado aquilo que a espera. Imaginá‑la casada aos oito ou dez anos, entregue a um outro Abdullah, ou a um outro Abdul Khada...
Abdullah continua na Arábia Saudita, aí soube que eu estava à espera de um filho e não voltou. Era o que melhor podia fazer, a bem da minha tranquilidade.
Aprendo a esmagar os chapatis no leite e a alimentar Marcus com a ponta do dedo, em pequenas quantidades. Ele deixou de chorar e à noite descobri a solução para as minhas insónias... Embalá‑lo e sonhar com o impossível: um bonito berço inglês que, juntos, nunca teremos.
A 8 de Maio de 1986, nasceu, na prisão, em Hockail, um filho de pai desconhecido, filho de Zana Muhsen, e só dela.
Somos mais dois prisioneiros no Iémen.
Receber documentos de Inglaterra, num grande envelope com selos ingleses, constitui uma felicidade sem igual. O presente mais bonito para os meus vinte e dois anos. Trata‑se de preencher formulários para obtenção de passaporte inglês. Ignoro o que a mamã está a preparar, mas preencher aquele papel linha após linha... faz‑nos rebentar de riso às duas. Algo vai acontecer. Tornar a existir de novo enquanto cidadãs. A Nadia tem um riso alegre, quase histérico.
O médico encarrega‑se de devolver os documentos e, duas semanas mais tarde, novo pedido da mamã. Precisamos de fotografias recentes para os passaportes...
"Podem ir a Taez tirá‑las?"
Toda a nossa alegria se esboroa num ápice. Como pode ela perguntar‑nos semelhante coisa, depois de ter visto as nossas condições de vida na aldeia? Ninguém aqui tem a intenção de nos levar em passeio a Taez. Nós, aqui, somos prisioneiras. Apercebo‑me com azedume da dificuldade que os outros têm, no estrangeiro, de compreender devidamente a nossa situação. A nossa própria mãe se deixou iludir. E isso é um pouco por culpa minha. Se não lhe tivesse escondido que Abdul Khada me batia ao menor pretexto. É mesmo inútil falar‑lhe disso.
Pronto, está tudo estragado. A mamã imaginou que tínhamos os movimentos livres, que éramos susceptíveis de fazer qualquer coisa que a ela lhe parece normal. Agora tudo, todas as etapas que pensávamos ter transposto rumo à nossa libertação, se esboroa.
O que diria a mamã se soubesse que a minha irmã ia dar à luz pela segunda vez? Sofreu durante três dias, antes de trazer ao Mundo uma criança tão grande que parece ter seis meses. Ao descer para Ashube no dia seguinte ao parto, não pensava deparar com aquela rapariguinha de longos cabelos pretos. Muitas dificuldades provocou Tina à minha irmã.
‑ Ao fim de três dias, as contracções chegaram enfim, mas eu bem podia fazer força que não se passou nada durante horas. O bebé não se mexia. Gritei sem interrupção durante seis horas. Todas as mulheres à minha volta estavam certas de que eu ia morrer, estavam com medo e não sabiam de todo o que fazer. Acabaram por chamar a velha que pratica as excisões. Ela tem mais experiência do que as outras. Viu que eu não me desenvencilharia sozinha. Então pegou numa navalha de barba e operou‑me.
‑ Operou‑te? Com uma navalha de barba? O que é que ela te fez?
‑ Aumentou a abertura, para que a criança pudesse passar. Senão teríamos morrido as duas.
‑ Tens dores?
‑ Sim, muitas.
‑ Não mandaram vir o médico?
‑ Sim, mas quando ele chegou já a velha me tinha operado e ele tornou a partir sem me examinar.
O nosso médico de Hockail podia ter ajudado a Nadia. Mas aqui está fora de questão que um homem examine uma mulher tão intimamente. Preferem deixá‑la morrer a atentar contra o seu pudor... Estes costumes medievais enraivecem‑me. Uma mulher da aldeia teve um parto difícil, um dia, pela posição. A criança não podia sair, morreu dentro dela. Aquilo foi horrível, pois era possível ver‑lhe as duas pernas fora do corpo da mãe. O nosso médico foi alertado demasiado tarde. Poderia ter salvo a vida da criança, mas a família não queria recorrer a ele. Vergonha. Antes a morte de uma criança a mostrar o ventre a um homem...
Tina sofreu a excisão ao quarto dia do seu nascimento, conforme a tradição. O Marcus deveria ter sido circuncidado ao sétimo dia, mas estava fraco demais. Está‑o ainda. Tem dois meses e nesta altura já não quer comer e recusa qualquer alimento, sem excepção. Já não sei o que fazer, pois por azar o nosso médico está ausente da aldeia. O Marcus chorou durante quarenta e oito horas sem interrupção. Esta última noite, enquanto, desesperada pelos seus gritos, me esgotava a embalá‑lo, entra Ward, malévola.
‑ És tu que lhe fazes mal, rogaste‑lhe uma praga para ele não parar de chorar, para ele ser infeliz. Envenenaste‑o!
‑ Sai daqui!
Continuo a ser a "puta branca", para ela.
‑ Põe‑te a andar e deixa‑nos em paz!
Se não tivesse saído, eu mesma a teria obrigado a sair à paulada. Esta noite estou no limite das minhas forças, mas segurar Marcos nos braços, vinte e quatro horas por dia, não o vai curar.
Ao terceiro dia, desço até ao sopé da colina, a casa de Abdul Noor.
‑ Ouve, o Marcus está doente, vai morrer. Se não me ajudas, eu mesma alugo um carro e o levo a Taez...
Não tenho qualquer hipótese de concretizar a minha ameaça. Ninguém me alugará um carro na ausência de Abdul Khada e sem dinheiro. Estou no fim e capaz de qualquer loucura, mesmo de partir a pé se for preciso. O Marcus vai morrer e toda a gente faz troça.
Abdul Noor aceita ajudar‑me. Sempre se mostrou relativamente neutro em relação a mim. Partimos de manhã cedo, como habitualmente, para evitar o calor. O Marcus continua a gemer, debilmente. A sua carinha engelhada amedronta‑me. Não tenho ideia absolutamente nenhuma do que ele possa ter. Abdul Noor sabe da existência de um hospital para crianças em Taez e leva‑nos lá directamente.
Logo à entrada somos confrontados com um verdadeiro rebanho de crianças e de mães, instalados por todo o lado, em bancos ou sentados no chão. O barulho é infernal. As crianças choram, as mães interpelam‑se, procuram encontrar alguém que as ajude. Estão tão perdidas e desesperadas como eu.
Não há ninguém para nos informar, temos de esperar como os outros, de nos pôr na bicha... Há ali crianças gravemente feridas, cobertas de sangue, outras queimadas. É pavoroso. Enquanto Abdul Noor dá em vão a volta pelo edifício, à procura de uma indicação, eu tenho de esperar ali com o Marcus, durante horas, mulher velada entre as outras, mãe angustiada entre as outras. Nunca haveremos de encontrar alguém qualificado para examinar o Marcus. Aquele hospital mais não é do que uma total miséria e desorganização.
Já não sei ao fim de quantas horas, Abdul Khada consegue enfim desencantar um homem de bata branca, um médico. Este pega no Marcus, examina‑o por um instante, entrega‑mo sem explicação, com uma caixa de comprimidos.
‑ Dá‑lhe isto.
E vai‑se embora, para examinar outro bebé. Nem sequer tenho tempo de protestar, de perguntar do que sofre ele. Desapareceu. Acabou‑se a consulta, que não durou mais de três minutos.
Abdul Noor arrasta‑me lá para fora, temos de partir. Retomamos o táxi e regressamos imediatamente a Hockail. E a mamã que nos pedia fotografias...
Sob a vigilância de Abdul Noor, quase não vi nada de Taez e ainda tenho de lhe agradecer a sua ajuda excepcional.
O medicamento é‑me desconhecido, ignoro o que é suposto ele curar. Não tenho outra opção que não obrigar o Marcus a engoli‑lo. Esmago os comprimidos, para os fazer em pó
e lhos meter na garganta. Ao fim de alguns dias, parece estar melhor e já não chora. Os gritos cessaram enfim. Aquilo era de enlouquecer. Mas continua a comer pouco, continua magro, e fraco.
Único comentário de Ward:
‑ É como o pai dele na mesma idade.
Odeio essa ideia de o meu filho se parecer com Abdullah.
Há vários meses que corria um rumor na família de Gowad, segundo o qual a sua esposa, Salama, ia ter com ele a Inglaterra, onde está a trabalhar. Há dois anos que ele se esforçava por lhe obter um visto. Ela tinha um problema de saúde e essa viagem tornava‑se cada vez mais necessária. Salama esperava por aquela viagem, tinha saudades do marido, ausente há quatro anos, e ficaria radiante por se instalar em Inglaterra durante algum tempo, por se curar e depois voltar para a aldeia.
O rumor concretiza‑se e Nadia recebe uma carta do "sogro", recomendando‑lhe que não se preocupe. Ele promete‑lhe que Salama regressará em breve... Entretanto, Nadia tem de ficar sozinha em casa, e de tratar de toda a tribo de crianças. Salama tem dois filhos: Shiab, o rapaz com nove anos de idade, e Magida, a miudinha de quatro anos. Com Haney e Tina, o fardo é pesado para a minha irmã, mal recuperada do seu difícil parto. Magida é simpática e terna, rechonchuda, com bonitos cabelos castanhos, encaracolados. Mas Shiab é uma criança insuportável. Não ouve ninguém, é mau, agressivo, bate na Nadia sempre que ela o repreende e não pára de lhe gritar: "Estou‑me nas tintas." Aquele monstrinho promete, recusa‑se a ir à escola e tem sempre um insulto na boca.
Bem gostaria de ajudar a minha irmã, mas Ward, como de costume, recusa‑me a autorização para lá ir.
‑ Negligencias o teu trabalho aqui e eu tenho de prevenir o Abdul. Vou mandar escrever‑lhe uma carta.
A resposta chega sob a forma de praxe. Proibição de ir a Ashube até nova ordem e se desobedecer, na sua próxima passagem por cá Abdul Khada bate‑me. Para ver Nadia tenho, pois, de esperar que ela possa vir de Ashube a Hockail e pelas suas visitas cada vez mais raras, dado o trabalho que lhe dão as quatro crianças e as tarefas domésticas que ela assume sozinha.
Desde a visita da mamã, que nos deu tanta esperança, que trabalhamos ainda mais, somos mais escravas do que nunca. Ainda mais prisioneiras. E continuamos saturadas de mentiras e promessas.
Gowad escreve a Nadia de Inglaterra e anuncia‑lhe sempre o próximo regresso de Salama. Promete‑lhe também que em breve poderá ir ter com ele a Inglaterra, com o seu "marido" Samir e os filhos.
Quanto a Samir, continua a trabalhar na Arábia Saudita. Passa lá um ano, volta durante alguns meses e torna a partir. Quando cá está, consegue dominar Shiab, o monstrinho do irmão. Mas tudo recomeça quando volta costas.
Nadia parecia acreditar nas promessas de Gowad. Mas os meses passam e Salama não regressa. É para mim evidente que a minha irmã não sairá daqui. Oiço dizer, em casa de Abdul Noor, que Gowad estava a tentar obter um passaporte inglês para Salama...
‑ Acabou‑se, Nadia. Ele mentiu‑te desde o princípio. Deixa‑te aqui com todos os miúdos, enquanto que se desenvencilha para fazer a mulher ficar em Inglaterra...
‑ Mas eu quase não tenho dinheiro, ele não mo mandou...
‑ Abre uma conta em nome dele no merceeiro e serve‑te!
‑ Tenho medo...
‑ Todas as mulheres de cá fazem isso. O merceeiro sabe...
Ela resigna‑se a adoptar os métodos locais. Mas vejo perfeitamente que sofre com aquela traição. Apegara‑se um pouco a Salama, que tinha o mérito de ser uma mulher normal, sein maldade, como a Ward. Agora, Salama abandonou‑a sem escrúpulos. É ela quem goza de Inglaterra, nesta altura. É ela que é livre. Ao passo que Nadia trava conhecimento com a esgotante existência das mulheres daqui, sobrecarregada de crianças e de obrigações. Tem mesmo de fazer trabalhos de costura numa velha máquina, para ganhar algum dinheiro. As crianças crescem, precisam de roupas, de uma alimentação adequada.
Alguns amigos que foram ver Samir à Arábia Saudita censuraram‑lhe o facto de deixar a esposa sem sustento. Como não pode influenciar o seu pai e fazer a mãe voltar, ei‑lo obrigado a mandar mais algum dinheiro, para melhorar a vida de Nadia.
Poder‑se‑á considerar que é melhor "marido" do que Abdullah. Da primeira vez que Abdullah viu o filho, não manifestou qualquer interesse por ele. Como se esse filho lhe tivesse sido imposto da mesma forma que a sua mulher. Só pensava em partir de novo. Continuo a considerá‑lo um garoto, e é‑o. O seu desinteresse não me perturba. Quando ele cá está ignoro‑o e na minha cama, odeio‑o. Esforço‑me por ser invisível. Desde o princípio que as relações sexuais obrigatórias me transformaram em pedra. Aquilo é exactamente como se não se passasse nada. Tenho uma parede na cabeça, a minha pele é de gelo. O ódio é uma defesa temível. Eles conhecem todo o meu ódio, o pai, a mãe e o filho. Nunca me atingem, devido a ele. Sou capaz de comer à frente deles sem os ver.
O Marcus tem um ano quando recebo uma visita inesperada: é o meu irmão Ahmed, que eu mal entrevi, uma vez, há muito tempo, em 1980. Na véspera da chegada de Nadia. Por sorte, nem Abdul Khada nem Abdullah estão no Iémen nesta altura. Ward chama‑me, dizendo que um homem quer falar comigo.
- Não o reconheço... ‑ diz ela.
‑Olá...
‑ Sou o teu irmão Ahmed.
Devo estar saturada de emoções, pois absolutamente nada se passa em mim. Nada. Só cortesia.
‑ Entra, instala‑te... Não tens bagagens?
‑ Não, só uma camisa de muda.
Uma vez os dois sentados no meu quarto, o meu pequeno universo‑refúgio, com os meus romances, as minhas cassetes e a minha velha mala, vestígio de uma liberdade desaparecida... olho finalmente para ele e compreendo. Éo Ahmed, o meu irmão mais velho, família minha... Desta vez conseguimos utilizar a mesma língua e conversar um com o outro. Conversamos, pois, e sei de tantas coisas ao mesmo tempo...
‑ Eu não sabia o que se passava quando nos conhecemos. Senão, teria tentado fazer qualquer coisa... Como é que isto vai por aqui?
Conto-lhe os nossos infortúnios, em breve sete anos de infelicidade, a visita da nossa mãe, as nossas esperanças. Ele chora comigo. Depois, conta por sua vez:
‑ Quando o papá nos deixou no Iémen, foi o nosso avô que nos criou, à Leilah e a mim. Casaram a Leilah aos dez anos. Ela habituou‑se. Acho que gostava do marido. Ficou com ele durante alguns anos, depois ele foi para o exército e foi morto em combate. Então, a família obrigou a Leilah a casar com outro homem, que detesta. Disse‑me ela que ele lhe bate. Vivem agora em Aden, ela tem três filhos e está grávida de um quarto. Não voltei a vê‑la desde há anos, mas por vezes tenho notícias dela. Acho que tem o teu carácter, resiste como pode ao seu novo marido.
‑ Não pode divorciar‑se?
‑ Em Aden, as mulheres têm direito a fazer condenar o marido pela Justiça, se forem maltratadas. Ela apresentou uma queixa e o tribunal declarou ao marido que se ele não se portasse melhor com ela, da próxima vez ela teria o direito de se divorciar... Por isso, ele agora tem cuidado.
Ahmed tem um ar triste e desamparado. A sua história em nada é melhor que a minha. Quando o nosso "pai" os deixou aqui, o avô trabalhava no Koweit. A sua primeira mulher, por conseguinte a nossa avó, tinha morrido e ele deixara as duas crianças à guarda da sua segunda mulher. Uma madrasta terrível, que os alimentou com detritos, lhes bateu e imediatamente os obrigou a trabalhar.
‑ Mandava‑nos para a rua todas as noites, descalços e sem luz, para irmos buscar lenha. As vezes fazíamos quilómetros para apanharmos o bastante. Eu estava o tempo quase todo doente. Aos treze anos, mandaram‑me para a tropa. Não havia voluntários suficientes e recrutavam jovens por todo o lado. Os homens da polícia faziam rusgas nas aldeias e levavam todos os miúdos, quer a família quisesse quer não. Quando foram a nossa casa, não me queriam, eu estava doente, mas a velha suplicou‑lhes que me levassem, fosse como fosse. Queria desembaraçar‑se de mim. Desde então, continuo no exército. A vida é dura. Mas posso voltar de tempos a tempos à aldeia, de licença, e ganho algum dinheiro. Seja como for, não tenho escolha. O avô recusou‑se a casar‑me. Não quer pagar‑me uma mulher.
Como ele se parece com o nosso pai! Apenas o olhar é diferente. Triste, habituado aos motejos, à aceitação, à submissão. Não conheceu senão isso durante toda a sua infância. Também ele não teve juventude e a sua vida de homem está amputada.
Quando penso nos infortúnios que o autor dos nossos dias causou, pergunto‑me porque é que ele fez filhos. Seja como for, não para os educar. Nem para os amar, nem para os alimentar, nem para os proteger do que quer que fosse. Até os lobos se comportam melhor que ele.
Hei‑de lembrar‑me sempre da partida do nosso pai. A Leilah gritava‑lhe que voltasse... Ele escreveu algumas vezes a pedir notícias nossas, eu nunca lhe respondi.
Ahmed está tão cansado que adormece a conversar. Deixo‑o descansar, para ir tirar água e buscar lenha, também eu de noite. Imagino o meu irmão, aos quatro ou cinco anos, fazendo a mesma coisa, aterrorizado. Já sem mãe, sem amor, nada para além do terror de uma região selvagem... Meu Deus, que ódio tenho ainda de reserva!
à noite, retomamos o fio das nossas histórias.
‑ Lembras‑te da mamã?
‑ Não.
Mostro‑lhe uma fotografia, que ele contempla durante um bocado. A sua mãe... não tem dela qualquer recordação, é como se nunca a tivesse tido. Quanto ao nosso pai, detesta‑o tanto quanto eu.
Curiosamente, o facto de ter vindo sem avisar, e depois da visita da mamã, torna‑me suspeitosa. E se o Abdul Khada, ou o nosso pai, o tivesse mandado para descobrir aquilo que nós estamos a preparar? Não revelo, por conseguinte, nada dos nossos projectos. Aprendi a desconfiar de toda a gente, mesmo do meu irmão. As únicas pessoas em quem posso ter confiança são a Nadia e a mamã. Embora me continue a caber impeli‑las para a luta.
Durante todos estes anos, lutei pela minha irmã, para que ela resistisse ao ambiente que pouco a pouco ameaçava tragá‑la. Falar iemenita, viver como iemenita, trabalhar, sofrer como uma mulher iemenita, quando só se tem catorze anos, se é uma criança, influenciável... Sem mim, ela teria soçobrado. Ahmed não conhece nada para além da sua aldeia e do exército, que detesta. De algum modo, tornou‑se iemenita contra sua vontade. Isso não o impede de se dar conta de que nós não levamos, nestas aldeias, uma vida normal.
‑ Eles aqui são retrógados, tudo isto está ultrapassado. Já quase ninguém vive assim.
‑ Tu também viveste assim.
‑ Porque o avô detestava o nosso pai. Transferiu para nós o ressentimento que tinha.
Começo a ver o velho de cabelos brancos a uma outra luz. E eu que na altura teria querido confiar‑me a ele!
O Ahmed pode ficar alguns dias connosco e eu levo‑o a ver a Nadia a Ashube. Os aldeões não tardam a desconfiar dele. Circula um rumor, segundo o qual ele teria vindo para nos ajudar a fugir. Ora, eu sei perfeitamente que ele nada pode fazer por nós. Não tem qualquer poder, não tem dinheiro, está tão preso como nós.
Sempre informado do menor movimento na aldeia, Abdul Khada escreve‑me, advertindo‑me de que não tente nada. Ao mesmo tempo que manda dinheiro para eu comprar comida para o meu irmão. Bruto, carcereiro, sob a cobertura do anfitrião perfeito. Ahemd censurava‑se, por seu lado, por não ter pensado na comida. Há tanto tempo que não como uma laranja, ou uma maçã. Estamos com escassez de fruta e a seca não ajuda em nada. Chá e milho, um frango... é esse o nosso único luxo.
Respiro um pouco por falar com alguém, por contar a vida que ele não conheceu em Inglaterra. Por lhe descrever os seus outros irmãos e irmãs. A escola, o rock, o reggae, a dança, todas as alegrias de antes que já não existem.
- Talvez um dia eles te deixem partir, ir ter com a mamã...
Não respondo. Por desconfiança, mas também porque a esperança me abandona lentamente, como quem perde o seu sangue numa sorrateira hemorragia.
Dia estranho, céu branco de calor, o Ahmed está em casa de Nadia. Observo Marcus deitado de barriga para baixo no linóleo do quarto, a brincar com um bocado de plástico, quando oiço barulho lá fora. É uma mulher, que vem de Ashube, esbaforida e alagada em suor por baixo do véu.
‑ A tua mãe está na aldeia com estrangeiros ingleses ‑ anuncia ela de um só fôlego.
De coração oprimido, ponho o Marcus debaixo do braço e dirijo‑me para a porta. Ward põe‑se a gritar:
‑ Onde vais tu?
‑ Vou a casa da minha irmã.
‑ Não vás, ou dás‑te mal.
Estou‑me nas tintas, vou.
E precipito‑me para descer a montanha com a mensageira. Uma meia hora mais tarde chego a casa da Nadia para dar comigo frente a frente com duas personagens desconhecidas. Um homem e uma mulher. Dir‑se‑iam turistas, carregados de aparelhos fotográficos.
‑ Onde está a mamã? ‑ grito eu.
- A vossa mãe não está cá. Nós somos jornalistas.
A mensageira enganou‑se; viu uns ingleses, dos quais um era uma mulher, e julgou que era a minha mãe. Nadia sai lentamente de casa, calma apesar de todos os curiosos que acorreram para ver os visitantes.
‑ São jornalistas e vieram à nossa procura.
Pulo de alegria. Esperava encontrar emissários da associação de Genebra, tal como a mamã o deixara supor. Isto é muito melhor. A imprensa inglesa, a imprensa do meu país está cá. Estou em êxtase diante deles. Eles vão testemunhar à volta, o plano entra em acção, finalmente! Finalmente, a mamã encontrou o meio de nos fazer sair daqui.
Entramos em casa de Gowad, apinhada de gente. A mulher é repórter do Observer de Londres.
- Eileen MacDonald. Este é Ben Gibson, o nosso fotógrafo - apresenta‑se ela.
Devoro‑os com os olhos. Ingleses. Eileen, loura, de cabelos curtos, uma cara com expressão determinada, calças e camisa, com o ar de uma turista. Ben também com ar de turista, mas como se viesse realmente de outro planeta, com uma cara de caçador de borboletas, sorriso nos lábios.
Apresentam‑me igualmente uma mulher intérprete. Foi a ela que, na realidade, tomaram pela mamã, na aldeia. E o motorista do seu automóvel. Traz uma pistola à cintura e saltita nervosamente, olhando em redor. Alguns homens da aldeia vigiam‑no, alguns armados com espingardas.
- Esperámos tanto, Eileen. Levam‑nos convosco? Por favor, vamo‑nos embora já!
Ela olha‑me com calma, como se eu nada mais tivesse dito para além de "Bom dia, como está...", ou uma banalidade desse género. Falamos em inglês, mas temos de ser prudentes e de dar o mínimo de especificações possível, pois alguns daqueles homens armados, na sala, podem compreender. Eileen dirige‑se ao motorista, a meia‑voz e como se nada fosse.
‑ Há forma de levar as raparigas e os filhos para Taez no jipe?
O motorista parece de súbito perfeitamente aparvalhado. Só agora percebeu que trouxe jornalistas até aqui. Conduz um jipe da Unicef e julgava transportar médicos, amigos da mamã, que tinham vindo ver‑nos durante as suas férias no Iémen. Aparentemente, os jornalistas manobraram bem para chegarem até nós. Ojipe da Unicef, de um branco radioso, é conhecido na maioria das aldeias de montanha. Serve para transportar os medicamentos até ao pequeno centro hospitalar da província de Maqbana.
O motorista discute com o meu irmão Ahmed, que muito rapidamente lhe conta a nossa história. Ele abana a cabeça numa negativa. Gostaria muito de ajudar, mas tem medo de ter aborrecimentos.
‑ Disseram‑me que vinham trazer presentes, só isso. Eu não posso levar estas raparigas... Se as levar, os homens disparam contra mim.
‑ Eles não se atrevem... ‑ diz Eileen.
‑ Mesmo que não disparem, não irei longe. Sou demasiado conhecido na região. Todos eles sabem que eu trabalho no hospital de Taez. Facilmente me encontrarão. Seria um suicídio para nós todos levá‑las desta maneira... Eles nunca nos deixariam transpor as montanhas.
O olhar dos homens em círculo à nossa volta, as suas espingardas, obrigam‑nos a admitir que ele tem razão. De resto, outros homens chegam, a sala está a rebentar pelas costuras, todos os homens disponíveis na aldeia foram advertidos da presença de estrangeiros em casa de Gowad.
Um deles avança e diz em mau inglês: Que levem as duas raparigas, mas as crianças não!
A tensão daquela situação entontece‑me. Via‑nos já livres, na estrada; há ali um automóvel, um motorista da Unicef, dois jornalistas ingleses... É a primeira vez que estamos tão perto da liberdade. Ponho‑me a gritar:
- De acordo! Fiquem com o meu filho! Eu fui violada para ter este filho! Todos vocês o sabem! Portanto, fiquem com ele, fiquem com ele!
Nadia esforça‑se por me acalmar. Sabe perfeitamente até que ponto eu desejo sair daqui, bem mais do que ela, e está muito infeliz por me ver naquele estado de fúria, por me ouvir dizer uma tal coisa. Abandonar o meu filho! Sei perfeitamente que ela não suporta a ideia de deixar os filhos. E o pequeno Haney agarrado à saia da mãe olha toda a gente com um ar amedrontado, está em idade de compreender.
Eu ousei gritar‑lhes a todos, nas suas caras sombrias e ameaçadoras, com o meu filho debaixo do braço, que ele era fruto de uma violação e que eu era capaz de o abandonar para lhes fugir.
Põem‑se todos a falar e a gritar ao mesmo tempo, alguns levantam o punho, ameaçadores. O motorista leva a mão à cintura e a intérprete explica a Eileen que aquilo ameaça dar para o torto, que é preciso fazer qualquer coisa.
O quê?
Distribuir‑lhes qat, isso entretê‑los‑á durante um bocado.
Trouxeram qat com eles, boa precaução. Eileen está manifestamente aliviada por ter com que pacificar a situação. O motorista faz circular a planta milagre e os homens acalmam‑se de facto. Em alguns minutos, estão todos entretidos a mastigar conscienciosamente. Eileen pergunta‑me onde podemos conversar a sós.
Levo‑os com a Nadia lá para fora e vamos instalar‑nos por detrás de casa, debaixo de uma falésia abrupta. Aí, acocorados no caminho, à sombra das velhas pedras, ninguém nos ouvirá.
- Julgávamos que toda a gente nos tinha esquecido - disse eu, um pouco mais calma, a Eileen. ‑ Há sete anos que estamos à espera que alguém nos venha tirar daqui. Pensava que eram vocês!
Estou desolada.
Ela é sincera e acho‑a já surpreendentemente corajosa por ter vindo até aqui. Mas a minha decepção é tal... Sete anos... para dar com jornalistas. Sete anos de todo o género de sofrimento. Tenho cada vez mais dificuldade em viver com nervos daquela forma. Insónia, doença, angústia, dores diversas, o médico da aldeia bem me pode dar todas as pílulas que consegue encontrar, que às vezes enlouqueço. Ninguém pode compreender. É preciso viver aqui, por entre a porcaria, as moscas, a comida aproximativa, os carregamentos de água, de lenha, é preciso viver nesta miséria moral...
‑ Temo que não seja assim tão simples levar‑vos. Se o motorista pudesse cooperar... e o risco é ainda demasiado. Dávamos todos connosco na prisão, sem termos conseguido nada. Nós viemos esperando no mínimo encontrar‑vos, falar convosco. Mas salvar‑vos... precisamos de uma ajuda oficial. Toda a gente neste país tentou dissuadir‑nos de virmos a esta província de montanha. Em Taez, disseram‑nos que as pessoas daqui eram bandidos e que eles facilmente matavam os estrangeiros que se metessem nos seus assuntos. Disseram-nos também que o governo nem sequer conseguiu recensear a população desta região. Todos os recenseadores desapareceram, parece. Ninguém viaja por estas montanhas sem uma arma e os turistas não estão autorizados a isso.
‑ Eu sei, nós não vimos ninguém em sete anos.
‑ A grande dificuldade foi localizar as aldeias. Não há um mapa, não há indicações, e se não tivéssemos contratado aquela mulher como intérprete nem sequer teríamos arranjado motorista. A estrada é infernal.
Bem sei que aquela estrada é infernal. Mas fá‑la‑ia a pé, se pudesse.
Eileen ficou surpreendida com as súbitas mudanças de paisagem. Oásis, árvores de fruto, cursos de água com guarda‑rios, e de súbito nada mais, o deserto árido, a montanha pedregosa.
- Uma vez, nas montanhas, encontrámos por fim pessoas que tinham ouvido falar de vocês. Chamavam‑vos "as irmãs tristes do Maqbana", porque vocês estão sempre a chorar. Estão perfeitamente ao corrente da vossa situação aqui. Disseram‑nos que os homens da aldeia não vos deixam partir...
‑ Como é que chegaram a Ashube?
‑ Avistámos a aldeia ao longe e alguém nos disse que a casa de Nadia tinha portas e janelas amarelas. Então, compreendi que tínhamos finalmente atingido o nosso objectivo. Nunca dissemos a ninguém aquilo que viemos cá fazer, é claro. Acho que nos teriam abatido antes mesmo de chegarmos à estrada principal. Parece que há um campo militar aqui perto. Disseram‑nos que nos apressássemos antes que os soldados fossem postos ao corrente. Dizem que eles disparam antes de fazer perguntas... Agora têm de me dar o máximo de pormenores, não temos muito tempo.
‑ Eu contei tudo na cassete que dei à mamã.
‑ A rádio passou um trecho dela. O Birgmingham Post publicou um artigo, um jornalista foi ver o teu pai, para recolher o seu ponto de vista acerca da questão. Ele respondeu que "estava muito insatisfeito com o vosso comportamento em Inglaterra e que quisera dar‑vos a conhecer a cultura tradicional muçulmana". Não reconhece absolutamente ter‑vos vendido. Era difícil acusá‑lo sem provas. Então, o jornal contentou‑se em dizer que vocês tinham desaparecido "misteriosamente".
"Misteriosamente... por mil e trezentas libras cada uma. O monstro... Dar‑nos a conhecer a cultura tradicional muçulmana... Violação e escravatura."
Eileen conta‑me ainda que os jornalistas duvidavam da veracidade da história. Felizmente, o Birmingham Post contactou o Observer e foi ela que tomou o caso em mãos. Toda aquela publicidade nos jornais é um resultado, mas eu só penso numa coisa. Eileen e Ben vão tornar a partir deixando‑nos aqui. Esta ideia é‑me completamente insuportável. Há aquele jipe da Unicef, na pista, com um motorista... Há que encontrar um plano que nos permita fugir desde já. O meu cérebro trabalha a toda a velocidade, penso e falo ao mesmo tempo:
‑ E se lhes dissermos que a mamã está em Taez, que está doente no hospital e que vos mandou virem buscar‑nos porque quer ver os netos?
Ideia tresloucada, mas nesta situação tresloucada pode ser que funcione.
‑ Vamos tentar.
É altura, de qualquer maneira, de decidirmos fazer qualquer coisa. Os homens tiraram partido do qat, saem agora de casa e aglutinam‑se à nossa volta. Deixou de ser possível falar tranquilamente. Decido‑me a explicar a minha história ao mais velho da aldeia. Ele abana a cabeça ao ouvir‑me, depois:
‑ Vamos mandar alguém a Taez, para ver a tua mãe. Se estiver realmente doente, ele virá buscar‑vos.
Agora é preciso reflectir ainda mais depressa. Viro‑me para Eileen e sussurro:
‑ O jornal tem de pagar a viagem à mamã para ela dar entrada no hospital de Taez...
‑ Não temos tempo, isso é impossível.
Ahmed procura uma outra ideia. Propõe fazer intervir soldados seus amigos para intimidarem os homens da aldeia, provocar uma barafunda que nos permita fugir. Isso é insensato e irrealizável. Nada funciona. Está tudo perdido. Eles vão partir. O motorista impacienta‑se, tem medo. A intérprete também teme ter aborrecimentos. é uma mulher, também ela correu riscos. Aconselha‑me a não provocar os homens da aldeia.
‑ Se tu lhes disseres que te vais embora, eles levam‑te para uma aldeia inacessível e nunca mais te hão‑de encontrar. Conserva a calma.
Expludo de cólera.
‑ Calma? Não dizer nada? Mas, aqui, se nos mantemos calmas não aguentamos. Fugir é a única coisa que nos ajuda a aguentar e se não no‑lo repetimos vezes sem conta tornamo‑nos pílulas!
‑ Logo que estivermos em Sanaa, iremos à embaixada ‑ promete Eileen. ‑ Agora já é só uma questão de semanas. Sejam pacientes.
Não posso impedir‑me de lhe responder com azedume:
‑ A paciência é a única coisa com que aqui nos mantivemos sempre. O que é que acham que fizemos durante sete anos?
O jipe vai‑se, acabou‑se. Toda a aldeia o vê partir e os miúdos correm. Felizmente, gritando. Nadia embala a filha, enquanto chora. Eu choro também.
Pela primeira vez em sete anos, tive a sensação de que ia saltar deste país para fora. Recuperara já o alento. Mas os jornalistas só levam fotografias.
De vestido à muçulmana, uso o meu próprio luto.
Esperar. Ter paciência. Deixar correr o tempo. Em Londres, sempre havia datas, aqui, não correspondem a nada. Por vezes tenho de fazer um esforço de memória para situar os momentos essenciais. O nascimento das crianças .Eles mantêm‑nos prisioneiras bem mais eficazmente do que correntes
O automóvel já não existe, nem sequer uma nuvem de poeira no ar.
Regresso, enfim, à aldeia de Hockail, levando a esperança.
É impossível falar. Ahmed decidiu ir ter com os jornalistas a Taez e manter‑me ao corrente.
Sei da sequência dos acontecimentos através de uma carta da minha mãe semanas mais tarde. Após a imensa decepção de ter visto tornar a partir os repórteres, ampara‑nos uma nova baforada de esperança, à Nadia e a mim.
O meu irmão Ahmed foi ter com Eileen e Ben a Taez. A sua primeira ideia era a de fugirmos para Inglaterra.
Os jornalistas dirigiram-se ao director do hospital que lhes fornecera o automóvel e o motorista. Este e o governador da cidade, Muhsen Aí Usifi prometeram ajudá-los, mas estando essa alta personalidade fora da cidade, o director não pôde renovar a sua promessa:
‑ Se o governador estiver de acordo, elas poderão voltar para casa da mãe
Depois de ouvir o ponto de vista dos maridos, mandá‑los‑á convocar em tribunal. Elas terão então de pedir o divórcio... mas isso custar‑lhes‑á muito caro e o caso pode durar cinco anos... Aqui, tem de se pagar a toda a gente. Aos soldados enviados a Maqbana para irem buscar as duas raparigas, aos advogados. Esta é uma história de dinheiro, desde o princípio. Vendidas, teremos de pagar pela nossa eventual libertação. Mais cinco anos... sob essa ideia mergulhamos em desespero. "Teremos de envelhecer aqui? Nunca!"
Eileen e Ben dirigiram‑se depois de avião para Sanaa. Aí chegados, estabeleceram contacto por telefone com o conselheiro da embaixada, Jim Haley, que já os ajudara à sua chegada ao Iémen. O próprio Jim Haley foi buscá‑los para os conduzir à embaixada britânica, numjipe blindado antimotim. Nós éramos, ao que parece, motivo de uma verdadeira guerra... O jipe chegou às pesadas barreiras metálicas que protegem a embaixada, o motorista buzinou, um plantão armado verificou‑lhes a identidade antes de manobrar as grades. Eillen adoptava com aquela gente, um comportamento idêntico ao meu. Mostrava‑se voluntariamente agressiva e escandalizada com o facto de, enquanto cidadã britânica, se suportar uma tal situação. Tentou tudo o que podia para contactar os funcionários certos, nos lugares certos. A embaixada estava extremamente aborrecida com o facto de dois jornalistas serem vigiados de perto pela polícia nacional. Isso não era tranquilizador para ninguém. Eileen e Ben obtiveram autorização para passar a noite na embaixada.
O seu plano era o seguinte: Ben deveria levar as suas fotografias de volta para Inglaterra, fazê‑las publicar no Observer do domingo seguinte. O embaixador e o seu conselheiro consideravam mais prudente evacuar Eileen, antes que o artigo fosse publicado em Inglaterra. Se ela se encontrasse ainda no Iémen nessa altura, arriscava‑se pura e simplesmente a não poder voltar a partir. Podiam acusá‑la de espionagem, de atentado à segurança interna do Estado e, em conformidade, atirá‑la para a prisão. No sábado de manhã, cedo, meteram‑na num avião, sob escolta.
Quando chegou ao aeroporto de Heathrow, em Londres, o jornal estava já nos quiosques, a nossa história na primeira página, com uma fotografia da Nadia, no seu vestido comprido e colorido, "tradicional na cultura muçulmana", diria o nosso pai... Estava com a Tina nos braços.
Éramos célebres.
Ben e Eileen escaparam por pouco, pois, o que nós não sabíamos no dia da sua visita a Ashube era que Gowad tinha telefonado ao comandante militar da região do Maqbana para o advertir da presença de espiões. O comandante prometera a Gowad intervir e pouco faltara para que os dois jornalistas caíssem numa armadilha. Tencionava mandá‑los prender naquela mesma tarde, mas o calor era tal nesse dia que o comandante preferira adiar a detenção para a alvorada do dia seguinte... Não imaginava que aqueles dois estrangeiros apenas permaneceriam algumas horas no seu território, após uma tão longa viagem... Ouvi igualmente dizer, mais tarde, que eles tinham sido detidos por duas vezes na pista, ao regressarem de Ashube, por homens armados, julgando que nós estávamos escondidas no jipe.
Ambos tinham arriscado a sua vida para nos encontrarem e eu lamentava ter‑me mostrado tão azeda com Eileen. Todos os rumores possíveis e imaginários corriam a respeito deles. Sabia‑se agora que se tratava de jornalistas e que tinham viajado para Maqbana sob um falso pretexto. Penso que, por questão de cerca de vinte e quatro horas, eles não se safariam. Se nos tivessem levado, ainda menos. Teriam sido acusados de rapto e aqui executam facilmente. Durante vários dias, nada soube do que eles estavam a passar e morria de medo de que os tivessem prendido.
A carta da mamã traz‑nos mais boas notícias.
Não só a nossa história faz barulho em Inglaterra, já que todos os jornais por ela se interessam a partir daí, como os dois governos são postos em causa e obrigados a levar a questão a sério face à opinião pública.
Esse é o primeiro ataque importante. A mamã só lamenta uma coisa e sofre com o facto de alguns jornalistas terem achado por bem insistir na faceta sexual. Violação na primeira página. Duas adolescentes violadas no Iémen...
Eu compreendo‑o, mas é penoso. O que sabem de violação aqueles que a não sofreram? Nada. Não sabem nada da humilhação, da culpa que se sente. Fica‑se sujo para sempre, gostar‑se‑ia de não se voltar a falar disso, de deixar de o saber. Esquecer. Mesmo que a violação continue. Porque nada acabou, para nós. Enquanto estivermos prisioneiras nas nossas aldeias e "casadas", ela continua. Ser assim atirada ao público, como pasto, é duro. Mais um preço a pagar para obtermos ajuda. Não pensara nisso.
Pagarei esse preço. Porque o processo avança. O governo britânico preferira abafar o caso, apesar dos pedidos de socorro da mamã. Agora, o secretário para os Negócios Estrangeiros e o secretário do Interior são directamente interpelados. Os jornalistas criaram‑lhes um verdadeiro problema diplomático, que eles já não podem dissimular. Eileen é uma testemunha ocular, que informou com precisão, com talento e até ao mais ínfimo pormenor, como era possível que duas adolescentes de mãe britânica fossem vendidas pelo pai e desaparecessem no Iémen.
Abdul Khada é, como sempre, informado mais depressa do que os outros. Mesmo na Arábia Saudita, onde trabalha, está em condições de ter informações acerca da mais infima ocorrência no preciso momento em que ela ocorreu. Imagino que tenha fontes, cá e em Inglaterra, amigos que lhe telefonam, que lhe comunicam todos os rumores e os diz‑que‑diz a granel. Os homens jemenitas funcionam assim, como uma rede, viajam de um país para outro, sem nunca perderem o contacto.
Carta de Abdul Khada. Em substância:
"Sei que estiveram aí dois jornalistas estrangeiros. Eles não podem fazer absolutamente nada, não contes com eles. E que Deus te proteja se eles tentarem o que quer que seja. "
Curiosamente, essa é a primeira vez que não tenho medo dele e das suas ameaças. Já não tenho medo de nenhum homem daqui. Eles já nada podem fazer para me atingirem ou me ferirem. Sinto‑me liberta, no mais profundo de mim. A liberdade está próxima, sinto‑a, tenho a intuição de que não vai tardar.
O nosso irmão Ahmed vem de novo visitar‑nos. Deixou o exército, mas desta vez teve uma enorme dificuldade em vir ao nosso encontro. Os aldeões denunciaram‑no à polícia como agitador e ladrão! Teriam desaparecido umas coisas aquando da sua última passagem pela aldeia... Ele chega lá a casa, em lágrimas e esgotado.
‑ Estava quase a chegar a Ashube para ver a Nadia quando os homens me cercaram. Por ordem de Abdul Khad, que sabia que eu vinha a caminho. Apenas tenho o direito de vos dizer bom dia. Tenho de tornar a partir logo a seguir. Eles ameaçaram‑me seriamente. Se eu não obedecer ou se tentar ajudar‑vos, prendem‑me.
Abdul Noor, o nosso vizinho e irmão de Abdul Khada, vem, aliás, controlar imediatamente a presença de Ahmed. É menos agressivo do que os outros, mas está do lado deles, de qualquer maneira.
‑ O que vem cá fazer o teu irmão? Quer levar‑vos com ele?
‑ De maneira nenhuma, vem pura e simplesmente visitar‑nos. Não tem a intenção de criar aborrecimentos. É meu irmão, da minha família, deixou o exército e vem ver‑nos, é tudo.
De olhar inocente, ar calmo, esforço‑me por não mostrar qualquer agressividade, no interesse de Ahmed. Abdul Noor acredita em mim e dá‑lhe autorização para ficar lá em casa. Segui o conselho da mulher intérprete, manter‑me calma, não mostrar este halo de liberdade que brilha em mim. Passados alguns dias, Abdul Noor sobe de novo lá a casa e desta vez traz uma mensagem escrita de Abdul Khada, bem como uma cassete gravada por ele.
Começo por ler a carta:
"Recebi uma cópia do artigo daquela mulher de Inglaterra, tens de ouvir aquilo que eu digo na cassete. "
Abdul Noor aguarda. Vou, por isso, buscar o meu gravador, e ouvimos a voz do grande carcereiro no pequeno altifalante:
"Tenho feito muitas coisas por ti e tu não tens nenhuma gratidão. Pensava que eras feliz e que tinhas esquecido a tua família. Pensava também que tinhas finalmente aceitado o facto de estar casada e dispunha‑me a autorizar‑te a visitar os teus pais. A tua mãe é uma mulher forte, é incrível o que ela fez pelas filhas, compreendo‑a. Se quiseres partir, dá‑mo a saber directamente, e eu deixar‑te‑ei partir livremente. Mas terás de deixar o teu filho Mohammed."
Continua a chamar‑lhe Mohammed, e eu, Marcus.
Sei perfeitamente que ele não pensa um segundo que eu abandone o Marcus. Acha‑se tranquilo ao oferecer‑me a possibilidade de partir. Assim, se ficar, será por vontade minha!
"Aquele artigo não te trará nada de bom, ninguém lhe prestará atenção."
Delira. Aquele homem é paranóico. Por um lado, propõe‑me a liberdade e lisonjeia a minha mãe, por outro brande uma ameaça mal velada. Aquela mudança de tom é reconfortante. Isso quer dizer que está preocupado, que a situação evolui enfim a nosso favor e que ele está em vias de perder o controlo.
Este halo de prazer no meu olhar, tenho também de o extinguir, antes de olhar para Abdul Noor de frente. Ele pega na cassete, mete‑a no bolso. Ocorre‑me uma ideia.
Posso guardá‑la?
Dando‑a a ouvir aos homens da aldeia, talvez pudesse convencê‑los a deixarem‑me partir...
- Não. Era só para tu ouvires.
Jamais tornarei a ver aquela cassete. Mas isso é‑me, finalmente, igual. Aquilo não passa de uma intimidação. Ele não sabe que já não o temo. Que adivinho todas as suas astúcias. Eu envelheci. Sabe Deus o que eu envelheci em todos estes anos aqui. Se ele se mostra serpente, também eu posso ser serpente. Subo ao meu quarto para escrever uma resposta. Ele espera que eu diga: "Não deixarei o Marcus..."
Escrevo lentamente, aplicando‑me, em bom inglês:
"Quero partir, diz‑me quando posso fazer a minha mala."
Fecho o envelope, sabendo muito bem que Abdul Noor o abrirá, mas há que participar no jogo, e entrego‑lho sem comentários. Agora que sabe que eu aceito as suas condições, Abdul Khada não me renovará por certo a sua proposta, isso parece‑me evidente.
Corro pelo caminho das mulheres fora, para ir ver a minha irmã e lhe contar a ocorrência.
Ela tem ar de não se interessar pela minha narrativa. Parece‑me que já nada lhe interessa.
Eileen descreveu o olhar de Nadia no seu artigo: "Uns olhos mortos." É exactamente isso.
Uma cara de estátua, uns olhos mortos.
- Fala comigo Nadia, o que é que pensas de tudo isto?
‑ Nada. Voltar para casa? Abandonar aqui as crianças? Tu sabes que eu nunca conseguiria...
Sei‑o, com efeito. Há muito que ela renunciou a lutar. Aceitou e vive como um zombi. Eles conseguiram matar nela o mais infimo fragmento de energia. Em miúda, a minha irmã era tão viva, tão alegre. Eles assassinaram a miúda. Tenho diante de mim um bloco de resignação, o rosto tão bonito, de traços tão puros, de sorriso tão encantador, tão terno, transformou‑se em máscara. Esforço‑me, ainda assim, por reavivar uma chispa de sonho:
‑ Estamos perfeitamente de acordo, Nadia, a primeira que conseguir sair daqui deixa os seus filhos à outra... A primeira a voltar para Inglaterra bate‑se pela outra.
Gostaria que fosse ela a primeira. Sei‑me capaz de continuar a lutar, mesmo aqui sozinha. Ela não. Sem mim para a estimular, não resistirá. Mas isso é inútil dizer‑lho.
No dia seguinte, chega‑me a voz de Abdul Noor do telhado de sua casa, lá em baixo:
‑ Desce... está aqui alguém para ti!
O alguém chama‑se Abdul Walli, é chefe da polícia, e Abdul Noor previne‑me:
‑ É um homem muito importante. Tens de lhe testemunhar muito respeito, foi mandado pelo governador de Taez para investigar a teu propósito.
‑ Onde está ele?
- Aguarda‑te em casa da família da mulher.
Eu já ouvira falar daquele homem, mas sem nunca o ter conhecido. Dizem que ele está atento a todos os problemas das pessoas da região. Mas connosco não se trata de um simples problema de cultura, ou de rebanho.
‑ O que quer ele saber?
‑ Está ao corrente da tua história. Os jornais ingleses apareceram na Arábia Saudita, na Líbia, por toda a parte... O governo quer saber o que se passa, pediram‑lhe para te procurar.
Isso não deve ter sido complicado para ele, já que a família da mulher vive na aldeia... Abdul Noor acompanha‑me pela beira da estrada até casa deles. O meu véu está ajustado, como sempre quando tenho de ir à aldeia e de correr o risco de me dar a ver a homens desconhecidos.
A casa está cheia de gente e Abdul Noor diz‑me para ir para a divisão reservada às mulheres e esperar.
‑ Quando ele quiser falar contigo, chamo‑te.
A sala reservada às mulheres é um verdadeiro viveiro de pássaros. Elas gostavam de saber o que pode querer de mim um homem tão importante, as perguntas brotam de todos os lados. Gostava tanto que elas se calassem, preciso de calma. Preciso de me concentrar naquela entrevista, tão importante para mim. Mas elas tagarelam, tagarelam... então mando‑as calar.
‑ Deixem‑me em paz, isso não vos diz respeito!
Aconteceu‑me com frequência ser dura e azeda com as outras mulheres. Unicamente para as mandar calar e pôr termo às perguntas indiscretas. Elas não têm qualquer sentido da discrição e do respeito pela vida alheia. É assim, a culpa não é delas.
Passam‑se alguns minutos, num silêncio matizado de murmúrios, depois Abdul Noor chama‑me. Encontro‑me numa outra divisão, maior, mais confortável, reservada às visitas masculinas. Lá ao fundo, está um homem sentado de pernas cruzadas, em cima de uma almofada, vestido como um sudanês com uma longa djellaba branca. Tirou a coifa e pousou‑a ao seu lado. Em cima de uma mesinha diante dele, estão espalhados papéis. O homem é pequeno e gordo, com cabelos pretos e frisados, com uns bons trinta anos de idade. Tem com efeito um ar importante e diz cortesmente:
‑ Bom dia.
‑ Bom dia.
Indica‑me o chão, em frente da mesa.
‑ Por favor, sente‑se.
Eu sento‑me no chão, de pernas cruzadas como ele, mas ele domina‑me da altura da sua almofada. O homem vira‑se então para Abdul Noor e sempre cortesmente:
‑ Por favor, queira deixar‑nos sós.
Espera que o outro tenha abandonado a divisão e tornado a fechar a porta para começar a falar:
‑ Ignorava totalmente a sua situação nesta aldeia. Gostaria de me falar dela?
Há muito tempo que um homem me não falava tão cortesmente... De uma só penada, faço‑lhe a narrativa da nossa história. Ele reflecte durante alguns segundos, depois arremete num discurso de explicação acerca dos hábitos e costumes do seu país e da sua religião. Eu oiço em silêncio. Aguardo a continuação, de coração a palpitar.
‑ Alguma vez pensou em estabelecer‑se no casamento com Abdullah? Vocês estão casados há longos anos, alguma vez sentiu amor por ele?
‑ Não, nunca. Detesto‑o e não o quero.
Não tinha pensado que chorasse ao responder, mas aquilo é mais forte do que eu e ele parece muito incomodado com aquela emoção.
‑ Estive com a sua irmã Nadia, antes de si, esta manhã. Tive com ela a mesma conversa que tenho contigo neste momento...
Mistura o tu com o você, mescla de cultura.
‑.. Também ela me disse que era infeliz e que queria voltar para Inglaterra, mas quer levar os filhos e o marido com ela. O que pensa disso?
Temo bem que a Nadia não possa ter dito outra coisa. Essa é a única hipótese de levar o Haney e a Tina connosco. Se ela rejeitar Samir, os filhos ser‑lhe‑ão automaticamente retirados e confiados ao pai. Ela detesta tanto o Gowad e Samir quanto eu detesto Abdul Khada e Abdullah. Mas, devido às crianças, continua a ter medo de mostrar os seus sentimentos. Eu, pelo contrário, sou incapaz.
O homem permanece sentado, silencioso durante algum tempo, que me parece interminável. Pensa e eu espero respeitosamente que seja ele o primeiro a falar, conforme me recomendaram. Finalmente, decide‑se:
- Bom. Pode retirar‑se. Até à próxima.
Levanto‑me e abandono a divisão. Ele nada disse de preciso, mas estou certa de que ao voltar para Taez vai confirmar a versão dos jornais. Vamos partir. Eileen tinha razão, era só uma questão de semanas. Sete anos e algumas semanas suplementares, quase não acredito. Acabo, finalmente, de falar com alguém mais poderoso do que Abdul Khada e do que todos os homens da aldeia.
Torno a pôr o véu e deixo a casa sozinha, para de novo subir ao topo da colina. Na passagem, Amina, a mulher de Abdul Noor, interpela‑me, para saber o que se passa.
‑ Mete‑te nos teus assuntos!
E continuo o meu caminho, aliviada, liberta de um enorme peso. Falei, ouviram‑me. Não lhes pertenço, não sou do seu país nem da sua cultura.
A inglesa transpõe o seu caminho, sobe a colina e tira o véu, para respirar.
Ward e os dois velhos não me fazem perguntas. Sabem que não têm qualquer poder, que tudo se passa à sua margem, e que se me fizerem uma só pergunta eu lhes responderei com insolência. Por conseguinte, à minha frente calam‑se e estou‑me completamente nas tintas para o que eles contam nas minhas costas.
A velha Saeeda foi a única a mostrar‑se afectuosa comigo. Porque estava cá todos os dias e viu quanto eu sofri e penei sob a autoridade maldosa de Ward.
‑ Deixa lá, pequena... Que Deus esteja contigo. Se Ele achar que tens razão e que aquilo que te fizeram é injusto, há‑de repor a verdade.
‑ Deus, talvez, mas e os homens?
Hoje, parece‑me que a velha Saeeda tem razão.
A Nadia não abandonará os filhos. Temo por ela, se tentarem separá‑la deles. Quanto a mim, ainda não tenho coragem para olhar as coisas de frente. Varro do meu espírito a ideia de deixar o Marcus para trás. Recuso‑me a pensar nisso, por ora. É algo que terei de fazer, é inevitável, mas recuso‑me a sofrer com isso antecipadamente. Felizmente para mim, ele ainda não está em idade de fazer perguntas. Ao contrário do Haney.
‑ Vais‑me deixar, mamã?
Aquilo destroça‑me o coração e imagino o efeito que produz na Nadia. Quanto ao Marcus, apenas balbucia as escassas palavras de inglês que eu me esforço por lhe ensinar. Deus me proteja, como diz a velha Saeeda, e faça com que, se tiver de abandonar o meu filho aqui, ele não tenha tempo de fazer a mesma pergunta antes de eu voltar para o vir buscar.
Dois dias após a visita de Abdul Walli, as coisas precipitam‑se. De manhã cedo, quando estou já atarefada na cozinha, Abdul Noor vem prevenir‑me.
‑ Pediram‑me para te levar à cidade, a ti e à Nadia. Partiremos amanhã de manhã, ao nascer do dia. Faz por estar pronta.
A emoção faz‑me tremer a mão no forno, mal contenho a impaciência.
‑ Para fazer o quê?
‑ Alguém te quer ver.
"Quem é esse alguém, o que nos quer ele, será o governador?" Não ouso fazer a pergunta com medo de irritar Abdul Noor. Contanto que eles nos deixem juntas, à Nadia e a mim...
‑ Vamos no mesmo carro?
‑ Sim.
É a primeira vez desde há sete anos que vamos viajar juntas. Só essa ideia me parece formidável.
‑ E o Marcus?
‑ Não. Vais só por um dia. Deixa‑o cá. Estaremos de volta à noite. Estou à tua espera no sopé da colina, amanhã às cinco da manhã.
Vai‑se embora, sem me dar pormenores suplementares. O dia é insuportável de longo. A noite infernal, é impossível dormir um só segundo. Não paro de revirar na cabeça todas as hipóteses. "O que se irá passar, porquê só um dia?" Conto os lagartos no tecto, na penumbra. O Marcus dorme ao meu lado, tão frágil, tão magro ainda. às vezes pergunto‑me se ele não terá herdado a doença do pai... Torno a pensar naquela noite de horror, quando pela primeira vez me fecharam aqui com Abdullah. Naquela repulsa, naquela humilhação que não deixaram de me perseguir. "Vendida. Quem, nos nossos dias, pode ainda ser vendida?" Tinham‑me ensinado na escola que a escravatura tinha acabado, que cada ser humano tem direitos imprescritíveis.
às quatro horas da manhã, Ward vem buscar o Marcus e estende‑me a indumentária de cidade. Uma espécie de xaile preto que me envolve dos ombros à cintura, um véu, uma camisa comprida, e saiotes pretos que cobrem as pernas até aos pés. Levo por baixo as habituais calças de algodão. Abdul Khada trouxe um dia aquela roupa da Arábia Saudita. Não a pus muitas vezes. Assim vestida, já só deixo ver os olhos. A Nadia usa uma indumentária idêntica, mas fabricada na aldeia. Apesar da espessura de todas aquelas roupas, umas por cima das outras, suportamos o calor. Questão de hábito: ser uma mulher árabe, num país árabe. Os sapatos continuam a ser as chinelas de borracha, cuja presilha se parte regularmente e que se tem de substituir todos os meses.
Desço a colina perante a noite e o silêncio. O Sol ainda não nasceu, esta é a hora em que os animais da noite se calam e em que os do dia ainda não estão acordados. O xaile, a camisa comprida e os saiotes flutuam à minha volta a cada passo. Vislumbro de longe a lanterna de Abdul Noor que me aguarda em frente à sua casa, lá em baixo. Conheço perfeitamente este caminho, mas com todos aqueles saiotes tenho medo de tropeçar.
Ele vem ao meu encontro e descemos juntos a outra colina, que conduz à pista onde o land Rover está parado. É um carro que pode transportar doze pessoas, mas nesse dia ninguém mais há para além de nós. A estrada até Ashube percorre‑se em silêncio, Nadia está à nossa espera, em pé no caminho e sozinha no escuro. Sobe para o meu lado. Julgo‑me num sonho.
‑ Não consigo acreditar. Vais ver que na realidade não vamos a lado nenhum. Estamos aqui sentadas neste carro, aquilo dura uns minutos e alguém vai estragar tudo, dizendo‑nos para voltarmos para a aldeia, para aquela casa horrível.
‑ Acalma‑te... Não há razão para isso.
Ninguém nos vem deter e o Land Rover continua o seu caminho pela estrada deserta, os faróis desenhando arcos na noite a cada curva. Aproximamo‑nos de Taez no momento em que o Sol começa a despontar no horizonte. Um Sol ocre e vermelho, que banha a cidade aos nossos pés, com uma luz espantosa. O azul da bruma vinda das montanhas em redor, o ouro nas nuvens distantes... nunca vi esta cidade assim. Uma magnífica jóia luminosa de esperança.
O Land Rover toma a estrada que desce do djebel Sabir, por entre campos de qat.
Ainda não parámos em sítio nenhum, não fizemos perguntas, mas logo que o automóvel se embrenha nos arredores, pergunto com alguma impaciência:
- Mas aonde é que nós vamos?
‑ A casa de alguém. Alguém importante.
Muito gostam os homens, aqui, de rodear a sua conversa de mistério. As mulheres não têm de saber onde as levam, nem o que vão fazer com elas. Suponho que isso lhes dê a sensação de terem um pouco mais de poder sobre nós.
Em Taez, onde quer que se esteja, contempla‑se uma montanha coberta de casas dominando a cidade. Vista de baixo, por entre o calor, o ruído, a poeira e a sujidade das ruas do centro, aquela montanha parece sempre calma e serena.
O condutor do Land Rover continua a rodar muito para lá das pequenas ruas dos bairros baixos, como se se dirigisse directamente para a montanha ali em frente. Efectivamente, começamos a subir e vemos o telhado das casas. A estrada é agora lisa e a paisagem magnífica. Por todo o lado, casas soberbas, perfeitamente concebidas e decoradas. Um mundo muito diferente do resto da cidade que se espraia aos nossos pés, um planeta diferente das colinas e das aldeias miseráveis de Maqbana. O automóvel aborda curvas fáceis e largas, ladeia muros altos, e por vezes vislumbramos, graças a um portão entreaberto, esplêndidos jardins. Nunca aqui vira semelhantes casas, tão grandes, tão belas, autênticos palacetes. As janelas são contornadas por arcos brancos, sobre a pedra castanha, com os seus ornamentos de estuque, como desenhos de crianças, magníficas de proporção e ingenuidade.
Ao fundo da rua, o automóvel detém‑se diante da mais bonita das casas, construída na própria montanha, mesmo por baixo de nós, e rodeada por um muro imenso. Dir‑se‑ia um palácio encamado, com vidros cor de arco‑íris.
Estamos diante de um enorme portão de aço.
A bdul Khada desce do automóvel e carrega no botão de um intercomunicador. Aparece um polícia armado, conversam um instante, e o grande portão abre‑se diante do Land Rover, para nos deixar estacionar num parque interior.
Aquilo é um espectáculo extraordinário para nós, que há tantos anos vivemos quase na Idade Média. Subimos agora uma escada que conduz a uma grande porta de madeira, de um branco imaculado. Abre‑nos uma mulher, em traje tradicional, e guia‑nos ao longo de um corredor. Passamos várias portas, até a uma vasta sala mobilada com sofás e cadeiras, com cortinas nas janelas, papel pintado nas paredes, bem como diversos móveis pequenos, cómoda, toucador, aparador, e a um canto um imenso ecrã de televisão tremeluzente, mas sem som.
Nunca nós vimos um tal luxo. A mulher convida‑nos a sentar‑nos e a tirar os véus. Parece-me muito jovem, ter menos de vinte anos, com um ar infantil ainda, calma e afável. Está vestida com luxo, tecido matizado para a túnica, ouro nas calças, jóias fulgurantes nas orelhas e nos braços.
‑ Eu sou a mulher de Abdul Walli, vocês estão numa das nossas casas. Querem tomar chá, café, água mineral?
Optamos timidamente pela água mineral.
Aquela mulher é‑nos totalmente desconhecida. A família vive em Hockail, porquanto o seu marido me interrogou já em casa deles, mas nós nunca a vimos. Bonita, bastante pequena, ricamente vestida, serve as bebidas e desaparece à chegada do seu esposo. Abdul Walli enverga ainda a sua longa djellaba branca, caminha com à vontade, seguido por Abdul Noor, humilde e obsequioso.
‑ Bom dia... estou certo de que vocês se interrogam sobre o que vos vai acontecer? Pois bem, aqui têm, expus o vosso problema ao governador de Taez e ele pediu que vos mandassem vir cá, para analisar as possibilidades de resolver o vosso problema. Entretanto, descansem.
E torna a partir, sempre seguido por Abdul Noor. Mesmo que tivesse tido tempo, não saberia que perguntas fazer. Mais valia manter o silêncio e esperar. A mulher veio ter connosco, muito cortesmente, com uma ama e um rapazinho, para fazer conversa. Assim soubemos que os polícias submetidos às ordens do seu marido se reúnem a certas horas em frente à casa para mastigar qat. Explica‑nos ainda como o seu marido é ocupado, tomado pelas suas funções e que quase nunca está em casa... O rapazinho que brinca, a ama que o vigia e nós que esperamos, de costas direitas, sem sabermos quem nos vai comer e com que molho.
‑ Conhecem a minha família em Hockail?
‑ Não. Só fui uma vez a vossa casa, há dois dias.
‑ Esperava que me dessem notícias...
‑ Creio que estão todos bem.
Aquela conversa mundana, em semelhante altura, desconcerta‑me um pouco. Na verdade, Nadia e eu perdemos completamente o hábito das relações humanas normais. Aquela mulher é a primeira com quem falo sem preconceito nem cerimónia, nem ódio, e de coisas totalmente anódinas. Sinto uma estranha sensação de irrealidade. Tudo me pareceu irreal desde aquele levantar de noite, aquela viagem a duas, a cidade, aquela casa soberba.
A mulher deixa‑nos sozinhas um bom bocado, depois regressa com uma criada e uma refeição para nós. Estende uma toalha no chão, pousa nela pratos, garfos e facas. Nunca vi tanta comida numa só refeição. Arroz, carne de vaca, frango, sanduíches, sopa, frutas, e uma montanha de bolos desconhecidos e de todos os géneros. O luxo insano daquela casa constitui um desenraizamento total. Ajudamos em seguida a levantar os pratos, depois sentamo‑nos de novo no sofá, para esperar. Nadia quase não falou. Eu contentei‑me em elogiar, por boa educação, e sinceramente, aquele excepcional repasto.
A noite cai e Abdul Walli reaparece.
‑ Vocês passam a noite em nossa casa.
‑ E os nossos filhos? Devíamos estar de volta esta noite...
‑ Não se preocupem com os vossos filhos. Vocês podem passar aqui a noite.
Nadia confiou o Haney e Tina a uma vizinha, Marcus está com Ward. Abdul Noor desapareceu, suponho que tenha voltado para a aldeia para prevenir que nós ficávamos em Taez. Talvez eu devesse desconfiar, mas há qualquer coisa na segurança e no comportamento deste homem que me dá confiança. Ele está a tratar do nosso caso, o que por certo é demorado e complicado. Voltaremos amanhã, com toda a certeza. E depois, esta casa é descansativa, moderna, tentadora. Vimos televisão durante o que resta da noite, confortavelmente instaladas num canapé, a beber chá, comendo deliciosos bolinhos. De repente, isto é o paraíso.
Depois, Abdul Walli manda‑nos passar para um salão ainda mais espaçoso e luxuosamente mobilado, provavelmente o seu escritório, e eu vislumbro... um telefone! Aquela coisa que eu não via há anos. Um telefone... não acredito nos meus olhos.
‑ É verdadeiro?
Abdul Walli sorri da minha ingenuidade.
‑ É verdadeiro, claro.
- Pode levantá‑lo e falar para onde quer que seja?
‑ Evidentemente.
Já não consigo despregar os meus olhos daquele instrumento mágico. Uma ideia fixa: levantar o auscultador e telefonar à mamã... Conversamos com o nosso anfitrião e eu só penso nisso. Ele conta o que sabe da campanha de imprensa da mamã, dos artigos nos jornais ingleses. Eu oiço por entre o nevoeiro, sonho diante do aparelho, pousado em cima da mesa, tão próximo e tão inacessível. Estou doente com ele. De súbito, uma pergunta precisa:
‑ Continuam a querer deixar o Iémen?
‑ Sim, eu quero voltar para casa.
‑ Suponhamos que viviam aqui na cidade, isso alteraria os vossos sentimentos? - acrescenta ele no tom ligeiro do gracejo.
‑ Não. Eu quero simplesmente voltar para casa.
Ele não faz comentários e regressa às generalidades, à imprensa, ao conteúdo dos artigos, às fotografias... como se fizesse o balanço de uma exposição, enquanto eu continuo a fitar aquele maldito telefone, preto e silencioso, a um canto.
‑ Mas se ficassem na cidade? Com os vossos filhos, para cá viverem, isso não bastava?
‑ Não.
Volta à carga em diversas ocasiões, até que eu me enervo e me torno agressiva.
‑ Quer meter isso na cabeça de uma vez por todas? Eu quero voltar para minha casa. Recuso‑me a ficar aqui. E que a minha mãe continue a fazer o que está a fazer, até que nós possamos finalmente partir! Isto é claro!
Nadia baixa os olhos. Continua a ter medo quando eu agrido as pessoas. Abdul Walli abana a cabeça e reflecte durante um instante, depois arremete numa explicação paciente, segundo a qual todos os esforços da mamã para atrair para nós a atenção dos media puseram o governo iemenita em dificuldade.
‑ O governo está muito zangado com tudo isto. Esta história está a ganhar proporções que me embaraçam imensamente.
‑ Estou‑me completamente nas tintas. Nós precisamos dessa publicidade e as pessoas têm de saber a verdade. A verdade é que nós queremos voltar para casa há sete anos e que somos aqui retidas à força, contra nossa vontade. Ninguém, nenhum governo tem o direito de fazer isso. Agora, fomos longe demais para recuar, ou capitular, a troco de algum luxo na cidade...
Ele volta‑se para a Nadia.
‑ Concorda com a sua irmã?
‑ Sim, concordo com ela.
A suave vozinha da Nadia disse‑o tranquilamente e com firmeza. Quanto a mim, não tenho de modo algum a intenção de me deixar levar por este homem e de me cansar a ouvir os seus argumentos. Estou farta de lutar contra os homens iemenitas. Farta. Radicalmente. Desde que estou neste país que nele tenho esgotado os meus nervos, a minha saúde, a minha coragem. Lutar para ter uma personalidade, lutar para sobreviver, para comer, lutar para permanecer um ser humano. Sei como funciona o espírito deles. Eles procuram estupidificar as mulheres. Nada de escola, nada de modernidade, reduzi‑las às obrigações quotidianas, mandá‑las para os campos, tirar água do poço, apanhar lenha, vigiar os rebanhos para além de cozinhar e de tratarem dos filhos, e finalmente aceitarem a sua presença na cama como um dom do céu? Safam‑se bem. E atingem sempre os seus fitos, recusando‑se a ouvir‑nos, ou fingindo não compreender os nossos problemas. Hoje, já não estamos muito longe de atingir o nosso objectivo, a fuga está próxima, sinto‑o, está fora de questão capitular agora, mesmo perante este grande figurão. Além disso, a proximidade daquele telefone enlouquece‑me. Dizer que poderia levantar o auscultador e telefonar à mamã, assim, por magia, e que não posso sequer dar um passo em direcção ao aparelho.
Abdul Walli deseja‑nos boa noite e somos reconduzidas ao primeiro salão. Aí, dão‑nos lençóis para nos deitarmos. O chão está coberto de tapetes e é suficientemente confortável. Estendidas lado a lado, tagarelamos ainda em voz baixa pela noite dentro. Obcecada pelo telefone, congemino planos na cabeça. Ignoro como obter uma comunicação internacional. E neste país isso deve ser demorado. Não há esperança alguma de ter tempo que chegue. Se este homem fosse normal, tê‑lo‑ia proposto por iniciativa própria. Como se podem privar os filhos de falar à sua mãe quando isso seria tão fácil? Não posso mais com estas interdições. Quanto mais o objectivo se aproxima, menos calma estou.
No dia seguinte de manhã, nada se passa. Arrastamo‑nos por aquela casa, inactivas, desamparadas, sem qualquer informação sobre a nossa sorte. Imagino queAbdul Noor voltará para nos vir buscar e para nos levar para a aldeia... Esta separação dos filhos não nos agrada. Que alguém se mexa, ao menos, que proponha uma solução! Finalmente, o dono da casa aparece e declara:
‑ Vamos trazer‑vos os vossos filhos.
‑ Quando? Queremo‑los agora.
‑ Chegarão nos próximos dias.
Não obterei detalhes suplementares. Sempre o gosto deles pelo mistério. Manter as mulheres na incerteza.
‑ Como é que se entende com Ward, a sua sogra?
‑ Muito mal. Detestamo‑nos. Ela é odiosa comigo, insultuosa, e obriga‑me a trabalhar de manhã à noite. A maior parte do tempo em tarefas completamente inúteis.
Ele parece ouvir e compreender, sempre calmo e cortês. Depois sai. E durante todo o dia vivemos ao ritmo das suas idas e vindas imprevisíveis. Vem conversar durante um bocado, torna a partir não sei para onde, para tratar dos seus assuntos, e volta. Sempre com uma pergunta que já fez, ou um argumento já expresso. Passamos ambas mais uma noite no salão e no dia seguinte, o terceiro dia da nossa estadia em casa dele, decido obter mais amplas informações acerca daquilo que se está a tramar. Desconfio de que ele se vai esquivar, mas tenho de atacar.
‑ Bom. Nós não queremos voltar para a aldeia.
‑ Não voltarão.
A resposta colhe‑me desprevenida.
‑ Como? Quer dizer nunca mais?
Ele sorri.
‑ Têm a minha palavra.
Durante alguns segundos, tenho dificuldade em recuperar o fôlego e em encaixar a notícia.
‑ E porquê?
‑ Porque não precisam de voltar para lá. Podem morar aqui, em Taez, durante algum tempo.
Esta agora... custa‑me a acreditar. "Onde está a armadilha?" Se for verdade, isso é um sonho. Uma nova etapa, e não a menor. Desde a minha estadia em Hays, longe da Nadia, que só pensava em viver perto dela, e essa esperança concretizara‑se. Agora estamos em Taez, juntas, longe da aldeia, a próxima etapa é a Inglaterra...
Abdul Walli torna‑se simpático. Prometeu que as crianças vinham ter connosco, permite‑nos ficar aqui, longe de Abdul Khada, de Ward e da miséria das montanhas. Além disso, mostra‑se paternal, compreensivo, apesar de uma certa agressividade da minha parte, e deixei de ter a impressão de que ele me esconde seja o que for. Também Nadia está confiante, vejo‑a tranquilizada, descontraída, só lhe faltam os filhos, e a vida seria quase agradável, enquanto esperamos voltar para casa. Uma vez que este homem nos toma à sua responsabilidade, estamos, pelo menos, a coberto de uma intervenção de Abdul Khada. Ele é o chefe da polícia de Taez e isso não é qualquer coisa.
Aquilo que ignoro, nesta altura, é que a polícia de Taez está, entretanto, a interrogar o director do hospital, o motorista, a intérprete, todos aqueles que de perto ou de longe tiveram a ver com Eileen e Ben, no fito de os obrigar a dizer se sabiam ou não que aquela gente era jornalista. Por conseguinte, se cooperaram deliberadamente com o "inimigo", em suma.
A minha única preocupação éo facto de Abdul Walli ter, ainda assim, poderes limitados. A decisão final não lhe pertence, ele aplica as directivas do governo.
Dá‑nos a entender que temos de assinar uns papéis para que as crianças venham ter connosco. As cartas são dirigidas "A quem de direito". Nesses documentos, reconhecemos publicamente ser casadas, em bom entendimento, morar actualmente em Taez e não termos problemas especiais. Abdul Walli apresenta‑no‑los como um formulário administrativo destinado a confiarem‑nos a guarda das crianças. A troco da nossa assinatura, Haney, Tina e Marcus estarão aqui no fim da semana. Por isso, assinamos. Por um lado porque queremos recuperar as crianças o mais depressa possível e por outro porque decidimos confiar neste homem. Seja como for, não temos opção, ele é o único que se interessa por nós. O nosso único intermediário com o governo.
E nós esperamos, cativas deste palácio dourado. Temos autorização para nos deslocarmos pela casa e para subirmos ao telhado, para apanharmos ar. Lá de cima, a vista sobre a cidade é soberba. Uma magnífica cozinha moderna está equipada com frigorífico, lava‑loiça, máquina de lavar, misturadora... Tudo coisas que não vimos desde Inglaterra. Sem contar as delícias da água corrente e da electricidade. Acabaram‑se os carregamentos do poço, duche à vontade. Acabaram‑se os candeeiros fedorentos, acabaram‑se os lagartos nas paredes, as serpentes. Andar de pés descalços em cima dos tapetes... deixar correr a água pelo corpo... comer em pratos com garfos... e sobretudo estarmos juntas... como antes. Falar sem constrangimento, dormir sem medo...
Do cimo do palácio, podemos contemplar os polícias, instalados num edifício no interior do recinto, do outro lado do jardim. Usam espingardas, alguns, metrelhadoras, conversam entre si, passeiam‑se preguiçosamente aos nossos pés. Sentimo‑nos em segurança e quase livres.
No dia seguinte à assinatura dos documentos, as crianças estão aqui. Abdul Noor e Shiab, o filho de Gowad, trazem‑nos a Taez.
Haney, Tina, Marcus...
Marcus está em lágrimas e eu embalo‑o nos braços, perturbada. Antes de tornar a partir, Abdul Noor diz‑me:
‑ Desde que partiste que o Mohammed não parou de chorar.
"Mohammed... Tu chamas‑te Marcus. És meu filho e hás‑de ver a Inglaterra, hás‑de crescer lá, tratar‑te‑ão, irás à escola e falarás a nossa língua. A tua mãe é inglesa." Nessa noite, o pôr do Sol em Taez está mais sumptuoso do que nunca. Nadia sorriu.
- Chegaram os vossos maridos, estão à espera na outra sala, querem dar‑lhes os bons‑dias?
Estamos sentadas na sala reservada às mulheres quando Abdul Walli nos vem anunciar a nova. Há vários dias que falamos disso. O governo convocara‑os da Arábia Saudita, para uma conciliação, mas não sabíamos quando isso poderia acontecer. Levantámo‑nos contra vontade. Desde que estamos nesta casa de Taez, verdadeiro palácio comparado com as das aldeias onde sofremos sete anos, quase esquecemos os "maridos".
Eles ali estão, sentados os dois, contrariados, não sabendo muito bem como se comportarem perante Abdul Walli. Abdullah tem vinte e um anos, Samir vinte. São agora homens. Samir tornou‑se enorme, um verdadeiro batoque. Abdullah está mais magro do que nunca. Escolhemos o canapé mais afastado deles. As cortesias começam.
- Como estás tu? Como está o meu filho?
Aquilo dura alguns minutos, depois Abdul Walli deixa‑nos sós e Samir imediatamente se inquieta:
‑ O que é que se passa? Ouvimos um monte de rumores, não sabemos de todo o que se passa... Dizem que houve muitas histórias em Inglaterra e que a vossa mãe veio cá.
Nadia deixa‑me falar e eu não temo pô‑los ao corrente, acaso eles o não estejam já...
‑ A mamã está a fazer tudo o que pode para nos tirar do país. Aquilo que vocês nos impuseram é ilegal, nós nunca o aceitaremos. É assim.
Abdullah permanece silencioso, nunca falou muito, salvo para se queixar ao pai das minhas recusas. No fundo, não sei quem é aquele rapaz... Nunca soube o que ele pensava, nem mesmo se pensava sem o auxílio do pai. O que é certo é que se só tivesse que me haver com ele, só com ele, nunca teria posto a mão em cima de mim. Este casamento nunca teve o menor sentido e ainda me pergunto como é que um rapaz que se sabe odiado e detestado a este ponto se pode obstinar. Nem mesmo o seu próprio filho lhe interessa de todo... Aqui, os homens estão quase sempre ausentes, conhecem melhor o estrangeiro do que o seu próprio país, e imagino que os filhos só lhes interessem quando estão na idade de levar dinheiro para casa.
Samir pediu a Abdul Walli autorização para telefonar e, naturalmente, obtém‑na. Bem como Abdullah. Telefonam, cada um deles, ao seu respectivo pai, a Gowad, para Inglaterra, e a Abdul Khada, para a Arábia Saudita. Passados alguns minutos, Samir dá‑nos a saber o resultado dessas conversas:
‑ Não podemos divorciar‑nos. Não podemos abandonar as crianças.
‑ Éo teu pai que manda?
‑ O meu pai e Abdul Khada estão de acordo sobre isso. E nós também não queremos que vocês voltem para Inglaterra, para nos causarem problemas. Aliás, não partirão...
‑ Porquê?
‑ Porque as crianças não vão.
‑ E eu recuso‑me a voltar para a aldeia. A Nadia também.
‑ Podemos ficar em Taez. O meu pai e Abdul Khada estão de acordo, pelo tempo que vocês aqui ficarem, e as crianças também.
Aqui está, é tudo simples. Os filhos árabes não desobedecem nunca aos pais. Por conseguinte, recusam qualquer outra solução. Isso constitui um novo entrave à nossa partida. O próprio Abdul Walli nada pode contra essa decisão. Trata‑se de um assunto privado. Se os maridos não querem que as mulheres "viajem" com os seus filhos, nada se pode fazer...
Esperança e decepção. Eu devia estar à espera disto. As crianças continuam a manter‑nos como reféns. Nadia não suporta a ideia de os abandonar, eu não suporto a de a abandonar a ela. Ponto final, por enquanto.
A situação complica‑se, pois somos agora demasiados para continuar aqui. Abdul Walli resolve o problema instalando‑nos num apartamento, a cinco minutos de táxi de sua casa.
As coisas decorrem tão depressa que me pergunto se estava assim previsto. Mas continuo a agarrar‑me ao facto de estarmos agora na cidade e em relação com Abdul Walli. Tudo é preferível a voltarmos para Hockail e Ashube, a retomarmos a nossa vida de escravas.
O apartamento está situado num quarteirão popular, ao fim de uma rua estreita e miserável, num edifício deteriorado de três andares. Nós moramos no segundo. Um grande corredor separa dois quartos, ao fundo uma sala, uma divisão e uma cozinha. As paredes são todas azuis‑claras, o chão está coberto com um linóleo castanho, a sala tem por único "luxo" duas cortinas de algodão azul‑celeste nas janelas e um tapete no chão. A mediocridade deste sítio condiz com o bairro. Estamos apenas a cinco minutos do de Abdul Walli e das suas esplêndidas casas, mas este é um outro mundo, de ruídos, de poeira e de gaiolas de coelhos à guisa de habitações.
Há um quarto para a Nadia, Samir e os dois filhos. Um quarto para mim, Abdullah e o Marcus. Vamos ter de partilhar de novo a cama dos nossos "maridos". É inevitável. A lei do casamento no Iémen é estrita a este respeito. E eles já não são adolescentes aterrorizados por raparigas inglesas.
Eis o resultado imediato da parca vitória que nos levou a Taez. Eles trouxeram os seus colchões da aldeia e vêem‑nos instalá‑los no duro e frio chão de pedra. Não há qualquer mobília, à parte uma televisão que funciona sozinha e ininterruptamente. Na cidade, as pessoas não têm muita coisa, mas têm a televisão... Na cozinha, um despertador, um pequeno fogão a gás e uma prateleira. Há ainda assim um chuveiro na casa de banho, mas não há água quente. Aquilo é um pardeeiro, comparado com a casa de Abdul Walli, um pardeeiro comparado com o nosso apartamento em Inglaterra... Mas eu prefiro esse pardeeiro à casa na montanha. E a Nadia também. Além disso, não temos de trabalhar de manhã à noite, e em verdade eu tenho a intenção de ficar na cama o mais tempo possível, até à tarde.
A vida decorre assim durante algum tempo, os dois rapazes saem todos os dias para irem ter com amigos à cidade. Nunca lhes perguntamos onde vão nem com quem. Contanto que vão e que nós fiquemos sozinhas. É maravilhoso estarmos sozinhas. às vezes, recebemos a visita de Mohammed,o irmão de Abdullah, e da sua mulher Bakela. Nunca falamos da situação, todos a conhecem.
Ao princípio não saímos muito. Atemorizadas pela animação das ruas, pelas pessoas, pelos automóveis. Tornámo‑nos selvagens, no Maqbana. Sete anos de cativeiro fazem com que esta liberdade nos pareça difícil de viver nesta cidade desconhecida. Mesmo enquanto espero pelo detergente ao balcão tenho o instinto de pôr o véu, com medo que alguém me veja e faça juízos. Tornámo‑nos exactamente como as outras mulheres da aldeia, pudicas, intimidadas pelas pessoas e pela actividade da cidade, já não sabemos como nos comportarmos.
As crianças não nos largam um minuto, choram mal abandonamos uma divisão. Suponho que têm medo de se verem abandonadas de novo. O Haney é o mais angustiado de todos. Sempre agarrado às saias da Nadia, chorando mal ela se levanta para ir a algum sítio, e a gritar:
‑ Onde vais, mamã? Onde vais?
As notícias de Inglaterra não são muito brilhantes. A mamã depara com muitas dificuldades. Ela deixou‑se levar a cooperar com o Daily Mail, quando prometera o exclusivo ao Observer e a Eileen.
"Passei o dia de Natal com a Eileen e afamília, na sua casa de Londres. Já não sei onde dar com a cabeça, nem que colaborações aceitar com a imprensa... O embaixador do Iémen em Londres declarou aos jornais que sabia que vocês se tinham casado em Birmingham e que tinham ido livremente viver com eles para o Iémen. Ele pretende que todos os problemas surgiram quando eu me separei do vosso pai e afirma que se eu quiser ir ao seu país me será dada toda a liberdade, bem como todo o auxílio para trazer de volta as minhas filhas."
Tal corresponde à última versão daquele que nos vendeu. De início, reconheceu perante os jornalistas que nós tínhamos ido de férias e que nos tínhamos casado lá, em segredo... A diferença é provavelmente pouca para ele.
A vida continua em Taez. A nossa vida de mulheres. Veladas. Sinto‑me fisicamente melhor, menos cansada, menos deprimida, a alimentação melhorou. Aqui, as mulheres não trabalham, as mais modernas visitam‑se umas às outras, em geral de táxi para irem de uma casa para a outra. A sua principal ocupação é a conversa, os mexericos, os rumores. Ao cabo de um certo tempo, conhecemos algumas que queriam falar comigo, fazer‑me perguntas, que eu bem entendo. Mas preveniram‑as de que eu era agressiva e que a maior parte das vezes a minha única resposta era: "Mete‑te nos teus assuntos." De forma que não temos grande contacto com elas, à excepção das conversas clássicas a propósito dos filhos.
Quanto aos passeios, damo‑los pouco. Ver gente através de um véu é um exercício estranho. Na rua, reparei que algumas mulheres por pouco não eram esmagadas por uma bicicleta ou um automóvel. Falta‑lhes visão lateral, olham em frente, a direito, e muitas vezes baixam os olhos para não enfrentarem o olhar de um homem.
O tempo decorre com a monotonia destes dias sem interesse, uma espera eterna, desencorajante. A paciência e a duração do tempo.
Continuo com o telefone de Abdul Walli na mente. A ideia põe‑me em picos. Existem certamente outros telefones algures, noutros sítios, mas como fazer, sem dinheiro? São os homens que têm o dinheiro, que fazem as compras. Salvo quando trabalham no estrangeiro e têm de o mandar para casa regularmente. Em Taez, estando os nossos "maridos" presentes, nós nada temos para além de umas quantas míseras moedas.
Eu, que tenho um carácter bastante combativo, nunca tive a coragem de pedir a Abdul Walli autorização para telefonar à mamã. E eis que ele mo propõe! Imagino que alguém importante o aconselhou a agir dessa forma, na esperança de que eu dissesse à mamã que estamos felizes por vivermos em Taez, que está tudo bem e que já não é preciso fazer tanto barulho em Inglaterra. Nadia e eu tínhamos decidido entrar no jogo deles. Deixá‑los pensar que o escândalo está encerrado. Sabendo perfeitamente que não está nada e que jamais haveremos de ceder.
Eis‑me perante esse telefone tão desejado. Indicam‑me que números marcar, peço Inglaterra, oiço o ruído do aparelho contra o meu ouvido, como quem ouve o mar numa concha... O coração bate. É Ashia... a minha irmã Ashia quem atende o telefone.
- És tu? És realmente tu, Zana? És realmente tu?
Deve ter tido dificuldade em acreditar, a tal ponto que me faz estranhas perguntas para se certificar da minha identidade. O que equivale a dizer do clima de suspeição que deve reinar em nossa casa. Temem porventura receber um telefonema vindo de uma mulher encarregada de lhes dizer mentiras a meu respeito, do género: "Estou feliz, está tudo bem, não quero voltar, etc." Dada a má qualidade das comunicações entre os dois países, isso seria perfeitamente possível. Eles já se serviram de cassetes gravadas à força, porque não de falsos testemunhos ao telefone?
A Ashia passa‑me finalmente à mamã, tranquilizada com as minhas palavras. Falo depressa, conto à pressa, com medo de ser cortada, a mamã termina a conversa dizendo:
Vou a Taez dentro em breve... Em breve estarei aí,... Volto a ligar‑te para esse número...
Em breve... Em breve... Canto este pequeno refrão na minha cabeça, a mamã vem cá em breve... Não a vemos há mais de um ano, 1986, dois meses antes do nascimento do Marcus... A mamã vem cá em breve.
Passadas algumas semanas, anunciam‑nos que no dia seguinte vamos receber em casa de Abdul Walli uma chamada telefónica proveniente de Inglaterra. Mais uma noite de espera. Nadia no quarto dela com o seu grande "marido". Eu, no meu com o Abdullah e a minha repulsa. Apagá‑lo, com um passar de borracha, da minha vida, como quem apaga um mau desenho. Se eu fosse fada ou feiticeira e, com um toque de varinha, o fizesse desaparecer, esqueceria tudo.
No dia seguinte, a mamã está realmente ao telefone.
‑ Vocês estão bem? Não te preocupes, eu hei‑de ir, isso é para breve. Agora ouve‑me, vou‑te passar uma pessoa ao telefone, uma pessoa que te quer cumprimentar, compreendes?
Não compreendo lá muito bem, mas digo "sim", disposta a fazer tudo o que ela quiser.
- Chama‑se Tom e podes falar com ele, está bem?
‑ Está bem, mamã.
Oiço uma voz de homem dizer‑me:
- Olá, daqui Tom Quirke.
Ignoro quem seja Tom Quirke.
- Como é que isso vai?
Uih pouco à defesa, respondo:
- Vai indo.
‑ Zana? Continuas a querer voltar para casa, para Birmingham?
- Sim, claro, continuo a querer voltar. Quero voltar tão depressa quanto possível.
- O que é que aí te faz mais falta?
‑ A minha família e os meus amigos.
‑ Diz‑me onde vives.
‑ Estou em Taez, vivemos num pequeno apartamento. É melhor do que na aldeia.
‑ Aquilo é duro, na aldeia?
‑ É horrível.
- Estás doente?
‑ Nesta altura não, mas tive malária.
‑ Fala‑nos de Nadia e das crianças...
‑ A Nadia está demasiado intimidada, tem medo de falar ao telefone. Espera, como eu, voltar para nossa casa.
‑ Adeus, Zana.
‑ Adeus, Tom.
Estranha conversa, da qual não apreendo imediatamente o sentido. "Talvez um amigo jornalista? Ou um advogado... " A mamã não me disse nada de concreto, tem medo que estejam a escutar‑nos ou que cortem a linha se falarmos demasiado do "caso".
O dia telefónico não acabou, dizem‑me agora que o nosso pai gostaria igualmente de falar connosco. Há sete anos que ele nos vendeu e nos abandonou aqui, às mãos destes homens, e quer falar connosco? Nadia recusa‑se. É demasiado emotiva para enfrentar o nosso pai. Que de pai só tem o nome, num papel. Papel que ele, de resto, roubou para nos vender... Cerro os dentes, enquanto espero sentada junto ao telefone, que me surge ameaçador. A campainha faz‑me dar um pulo. Atendo com uma mão húmida, mas o cérebro está sólido, de betão.
‑ É a Zana?
‑ É a Zana.
Não o ajudarei. Espero, para saber o quer aquela serpente.
‑ Porque é que vocês querem voltar? Porquê? Eu morrerei de vergonha, não podem fazer isso. Toda a gente diz que vocês são felizes em Taez; se gostam de mim, não voltem!
No entanto, deve saber que não gostamos dele. Para que é aquela chantagem?
‑ Vocês têm de ficar aí, dar tempo a que os jornais esqueçam a história...
Desta vez não deixo passar:
‑ Isso convinha‑te? Ficarias todo contente se isto acabasse, hen? Não contes com isso.
‑ Zana, juro‑te que se vocês voltarem eu me mato.
‑ Perfeito.
Ele agarra‑se ao telefone durante perto de uma hora, não parando de repetir a mesma coisa. "Não voltem, é uma vergonha fazerem‑me isso, eu mato‑me, sou vosso pai, e isto... e aquilo..." "Então mata‑te, se queres." Contento‑me em responder sempre àquela chantagem de forma lapidar.
‑ Têm de acreditar em mim, isso é um escândalo.
‑ Pois sim.
‑ Tenho vergonha por vocês...
‑ Ah, bem!
‑ Morria de vergonha.
‑ Está bem.
O meu cérebro é de betão. Se cada uma das minhas palavras pudesse atingi‑lo de longe, e fazê‑lo desaparecer também a ele... Se bastasse carregar num botão... Pois então morre, vai‑te encharcar em cerveja com os teus amigos iemenitas, num café inglês. Ao menos, aí és livre de morrer. Eu não. De resto, não hás‑de morrer. Tu não podes morrer de vergonha. Este telefonema é mais uma cobardia e tu nada mais és senão isso.
‑ Têm de ficar em Taez, pela honra da família.
- Pois claro...
‑ Eu mato‑me...
‑ Pois sim.
Desliga, enfim. Sinto‑me conspurcada por ter falado com ele. Conspurcada mas reconfortada. Mais sólida ainda.
Passados alguns dias, o rumor informa‑nos de que o escândalo em Inglaterra ainda se intensificou mais. Aquela conversa que tive com Tom Quircke estava a passar na rádio. Ele era um jornalista do Observer. Ouviram‑me, em directo, falar de casa de Abdul Walli, chefe da polícia de Taez... Os jornalistas entusiasmam‑se de novo em relação ao assunto e Abdul Walli sente‑se cada vez mais posto em causa. Imagino que seja acossado pelos seus superiores, furiosos com o facto de este caso não ser abafado. Sempre que falamos com ele da amplitude desta campanha de imprensa, ele tenta persuadir‑nos.
‑ Há que aceitar a situação, vocês estão casadas, têm filhos, é inútil continuar. Digam à vossa mãe para parar com aquilo...
‑ Mas os jornais dizem a verdade. Nada mais do que a verdade. Casaram‑nos à força, fizeram‑nos filhos à força, retêm‑nos à força. Num país como o nosso, isso é inadmissível.
‑ Eu tenho as vossas certidões de casamento.
‑ Isso é impossível, elas não existem.
‑ Vê!
Mostra‑me dois documentos redigidos em árabe, dos quais consigo decifrar o essencial.
‑ Aquilo que é dito nesses papéis é completamente falso. Eu estudei o Alcorão, sei que é proibido obrigar uma rapariga ao casamento, nós fomos obrigadas, portanto recuso esse documento.
Ele tem um ar agastado pela minha obstinação. Não é um homem mau. Sei perfeitamente que recebe ordens e a Nadia e eu haveremos de considerá‑lo sempre o nosso salvador neste país. Foi graças a ele que pudemos fugir à escravatura nas aldeias, graças a ele que deixámos de ser agredidas e constrangidas aos trabalhos forçados. Ele éo primeiro homem, e o único no Iémen, a ter‑nos tratado correctamente, e respeitamo‑lo por isso.
As semanas passam e, progressivamente, a Nadia e eu voltamos a habituar‑nos ao mundo exterior. Saímos de táxi com as crianças, para passear. O automóvel vem buscar‑nos à porta de casa, de forma que não temos de andar a pé na cidade. Depois chega o dia em que ouso mandar parar eu mesma um táxi na rua, fazer compras, reclamar dinheiro para comprar roupas decentes às crianças. Umas calças azul‑celeste e um blusão para Haney, com um bonezinho de lá branca e vermelha. Uma saia pregueada às riscas cor‑de‑rosa para a Tina com um casaco de lã azul, bordado com florzinhas. E para o Marcus, que se aguenta em pé e começa a correr por todo o lado, um macacão de turco, fácil de lavar.
Estamos condenadas a ficar aqui um bom bocado, pelo que mais vale tornar a vida mais confortável. A cidade é superpovoada, suja, difícil de conhecer, mas como não vimos quase nada do Iémen desde que chegámos, excepto as montanhas de Maqbana, e no que me diz respeito um bocadinho do Mar Vermelho, tentamos conhecer Taez. Por vezes, sinto‑me quase na pele de uma turista inglesa, apesar do véu e do vestido comprido.
Uma vez, assisti a uma execução pública numa praça da cidade. Uma turba de gente, compreendidos mulheres e crianças, encontrava‑se para ver os condenados serem metralhados até à morte... Aterrador. Irreal. Vivo num país violento. Eu mesma sou vítima da violência dos homens. Impotente.
Hoje, três mulheres pediram para se encontrarem connosco em casa de Abdul Walli. Mulheres muito diferentes daquelas com que habitualmente caminhamos lado a lado. Uma apresenta‑se como a secretária do governador de Taez. As outras duas dizem pertencer a uma associação feminina da cidade. Têm entre vinte e trinta anos. Modernas, vestidas com saia e blusa, à ocidental, mas desembaraçando‑se à chegada dos seus grandes casacos e dos véus, indispensáveis para andarem "decentes" lá fora.
A secretária do governador, a mais jovem de aspecto, é a primeira a falar:
‑ Nós estamos encarregadas de fazer um levantamento a vosso respeito e de redigir um relatório. O governador gostava de saber mais qualquer coisa a vosso respeito.
‑ Podem dizer ao governador que isso não lhe diz respeito.
‑ Não tome assim as coisas. Nós viemos como amigas. Está fora de questão usar contra vocês as informações que nos derem. Tudo o que queremos saber é como viviam antes e aquilo que vos aconteceu. Isso pode permitir‑nos ajudar outras raparigas na vossa situação.
Não esperava aquilo. Respondi de mau humor e agressivamente, como de costume, quando por uma vez lidávamos com mulheres responsáveis, inteligentes e preocupadas com a condição feminina no seu país.
A descrição da nossa vida nas aldeias do Maqbana chocou‑as manifestamente. Não imaginavam que ainda se pudesse viver assim. Plantar e debulhar o milho à mão pertencia, para elas, a uma outra era. Quando concluo a nossa narrativa com a fórmula habitual, "Quero voltar para casa, somos demasiado infelizes aqui", a secretária do governador responde‑me firmemente:
- Vocês são cidadãs deste país. São iemenitas, não podem viver noutro sítio.
‑ Eu sei perfeitamente aquilo que sou. E perfeitamente aquilo que quero. Sou inglesa e quero voltar para a minha terra.
Isto é extenuante. Faço figura de robot, repetindo e repisando as mesmas coisas até à exaustão e, em particular, que é inútil tentarem convencer‑me. Começo a temer que aquelas mulheres tenham sido mandadas unicamente para isso. Usam dos mesmos argumentos que Abdul Walli: por vivermos agora na cidade, deixa de haver problema!
O problema continua a ser o mesmo. Nós queremos voltar para casa.
As três mulheres levantam‑se, com os seus papéis, os seus documentos, as suas jóias e a sua cidadania iemenita. Vejo perfeitamente que não estão satisfeitas com as minhas respostas, mas despedem‑se educadamente, sem mais comentários. Jogo empatado.
A mamã vem a caminho. Aqui, em breve toda a gente está ao corrente. Deve vir de avião, com Jim Halley, o cônsul britânico, e um intérprete do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas nada é simples para ela.
Para obter um visto, teve de ir primeiro à embaixada do Iémen em Londres, acompanhada por Eileen e Ben, do Observer. Aí, esperava‑os uma turba de fotógrafos e de jornalistas da televisão. A mamã teve de se agachar no fundo do táxi, que foi estacionar mais longe, diante de um pub. Eileen telefonou para a embaixada, para explicar a situação e pedir que alguém lhes levasse ao dito sítio os papéis para preencher. Isso levou uma meia hora. Após o que o táxi voltou a partir a toda a velocidade em direcção ao aeroporto.
O avião da Lufthansa aterrou em Sanaa, onde Jim Halley foi buscar a mamã para a instalar num hotel, próximo de sua casa. Foi daí que ela me telefonou. Do hotel de Sanaa. Desta vez, oiço‑a perfeitamente.
- Devemos encontrar‑nos amanhã com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Não sei se ele nos recebe ou se fingirá que está muito ocupado.
‑ Chegas quando?
‑ Não sei, parece que há nevoeiro em Taés. não sei se o avião partirá antes de um dia ou dois.
‑ Adoramos‑te, mama...
Há dias em que chorar é uma verdadeira alegria.
Magríssimo, de tez cinzenta, olhar baixo, Abdullah sentou‑se a uma ponta da sala de Abdul Walli. Olha para as sandálias. Samir depositou o corpo enorme na borda de um divã. As suas bochechas salientes parecem mastigar qat perpetuamente. Também ele olha para outro lado.
É a primeira vez que a mamã os vê. O rápido olhar que lhes deitou é uma condenação de desprezo sem apelo. Li‑lhe nos olhos o que ela pensava...
Eles são medíocres, indignos, sem qualquer interesse. Podiam estar cobertos de ouro. Isso não lhes daria, no entanto, o direito de comprar as suas filhas. Podiam ser bonitos, que o não teriam maior. Eles compreenderam‑no e mantêm‑se à defesa, preferindo olhar para o tapete ou para os sapatos a enfrentar de novo o olhar da minha mãe. Espero que se sintam humilhados.
Abdul Walli e a mulher concederam‑nos uma vez mais a sua hospitalidade para este primeiro confronto, no dia da chegada da mamã. Amanhã, temos de ir ao palácio do governador, com as crianças, para uma reunião na presença do cônsul da Grã‑Bretanha e de um oficial iemenita.
Ouvir‑se‑ia uma mosca voar, naquela sala. Vendo que nos mantemos as três em silêncio, Abdul Walli leva os dois "maridos" para outra divisão, a sala das ocasiões. Então, desenvencilhadas dos dois jarrões, podemos enfim contar tudo umas às outras.
A mamã trouxe brinquedos de Inglaterra, uma boneca para a Tina, um camião com carrinhos para o Haney e um carrocel para o Marcus. Uma baforada de Inglaterra comprime‑me o coração. Birmingham e a nossa infância. A boneca de Nadia, a de Tina, alinhadas no quarto, os meus discos que eu tinha tanta dificuldade em manter afastados de Mo, o meu maninho. Os meus livros... A nossa infância foi saqueada antes que dela tivéssemos saído. E eis‑nos mãe de família. A mamã, avó... e nova ainda. A Tina sorri‑lhe enquanto puxa os cabelos da boneca. Embasbacado, Marcus contempla aquele carrocel de todas as cores, hesitando em fazê‑lo girar. É um pouco pálido e tem sempre o ar triste, com a sua testa grande demais e os seus olhinhos com grandes olheiras. A Tina e o Haney, esses, estão de magnífica saúde. Hei‑de vê‑los correr num jardim inglês, no meio das flores.
A mamã está esgotada, mas tem melhor cara do que da última vez. O combate estimula‑a.
Regressamos ao apartamento "famíliar", onde instalámos um divã para ela.
‑ Está fora de questão vocês dormirem com eles na minha presença. Isso tem de acabar. Enquanto eu cá estiver, não vos quero ver no mesmo quarto que eles.
‑ Mamã, se alguém o disser a Abdul Khada, teremos aborrecimentos. Tu conheces as leis deles. Ele é capaz de voltar da Arábia Saudita e de fazer um escândalo.
‑ Estou‑me bem nas tintas para as leis deles. Vocês são minhas filhas e está fora de questão que estes tipos vão para a cama convosco. Porque é que ainda tens medo daquele homem?
É verdade, mesmo ausente, ele faz‑me medo, como se me fosse aparecer pelas costas e bater‑me, ameaçar de me atar à cama para que o seu filho cumprisse o dever conjugal.
A mamã ignora uma grande parte do que ele me fez. Um dia há‑de sabê‑lo, mas não por enquanto. Tive já grande dificuldade em tentar esquecer.
Assim, esta noite Samir dorme no seu quarto, e Abdullah na sala. Nós amontoamo‑nos em colchões com as crianças, no outro quarto. Eles não se atrevem a protestar.
‑ Prefiro não os ter à minha frente, ou pelo menos o mínimo possível ‑ disse a mamã levantando um pouco a voz.
No dia seguinte vestimo‑nos para a tal reunião oficial em casa do governador. A mamã olha para os nossos vestidos pretos, para os véus, e insurge‑se.
‑ Vistam‑se normalmente, vocês são inglesas e livres... O que vem a ser esta roupa?
‑ Mamã... não podemos. É impossível apresentarmo‑nos perante pessoas tão importantes em roupas ocidentais. Eles não gostam de ver a cara das mulheres e... enfim, é melhor
assim. Não queremos indispô‑los.
Há uma outra coisa, que a mamã teria dificuldade em compreender. É que todos aqueles anos de habituação aqui, de dissimulação, nos impregnaram mais do que ela poderia imaginar. Eu teria a impressão de estar nua, sem o véu diante do governador. Além disso, sei perfeitamente que falta ainda muito tempo para sermos livres. Esta é apenas a primeira etapa oficial e eu não os quero provocar daquela forma, sob pena de eles recambiarem a mamã no primeiro avião e nos mandarem de volta para as aldeias.
Jim Halley, o cônsul da Grã‑Bretanha, vem ter connosco antes de nos dirigirmos a casa do governador. É um homem de ar simpático, muito alto, com cabelos curtos de um ruivo fulgurante e um tremendo sotaque escocês. A presença de um homem, ocidental, de fato completo e que fala a nossa língua, constitui um reconforto considerável, uma verdadeira segurança, para a Nadia e para mim. Há anos que não estávamos lado a lado com um homem "normal". Quero dizer, que não se conduza como um amo, à iemenita.
O gabinete do governador é num edifício moderno, de quatro andares. Mandam‑nos subir dois pisos, depois esperamos numa ampla sala mobilada com sofás de couro preto, cadeiras à volta de uma imensa secretária. A sala enche‑se de homens quase de imediato. O governador, três secretários, o representante do ministério. Abdullah e Samir, de um lado; nós do outro, com Jim Haley e as crianças.
O representante do ministério, funcionário clássico, de sorriso servil, olhar frio, um grande nariz de fuinha e distinto quarentão, fala um inglês muito decente e é ele que enceta o debate. Quer ouvir a nossa versão da história, quando nós já contámos tudo mais de dez vezes...
O Marcus está infernal, corre por todo o lado, querendo brincar, e não pára de gritar. Já não sei como segurá‑lo, e a dada altura, o governador diz em árabe num tom seco:
‑ Manda‑o calar‑se!
Mas não se pode fazer nada quando uma criança da idade do Marcus decidiu fazer o diabo‑a‑sete. Quanto mais o impedisse de se mexer ou de gritar, mais ele o faria. De resto, decido ignorar a ordem e Marcus acalma‑se por si ao fim de um bocado. Haney está sentado nos joelhos da Nadia, os seus grandes olhos espantados percorrem toda aquela gente desconhecida. Tina dorme, enroscada contra a mãe.
Eu falo agora por entre um silêncio quase religioso. Os homens têm a cabeça baixa, como culpados, à medida que descrevo a maneira como nos trataram. Esforço‑me por não ser agressiva, por empregar frases simples e neutras.
‑ Antes de chegarmos ao Iémen, não sabíamos que nos tinham casado. Obrigaram‑nos a ir para a cama com aqueles rapazes.
‑ Vocês são felizes actualmente?
A pergunta vem do representante do ministério. Eu fito‑o bem nos olhos e respondo firmemente:
‑ Não.
Ele precipita‑se numa explicação das leis iemenitas do casamento, que eu já ouvi centenas de vezes, e conclui com a mesma advertência:
‑ Se vocês deixassem o Iémen, não podiam levar as crianças. Sabem disso?
‑ Porquê? São nossos filhos. Seja como for, são ilegítimos. Não pertencem aos pais, já que nós nunca fomos legalmente casadas com eles. Aqueles casamentos realizaram‑se sem nós, sem o nosso acordo, por isso porque é que não havíamos de poder partir com eles?
Nenhum homem daqui gosta de ouvir uma mulher falar daquela maneira, e todos eles procuram interromper‑me. Mas eu insisto, resoluta. Devo fazê‑lo, por mim e pela Nadia.
‑ Tudo é falso nestes casamentos. Os papéis são falsos, eu não sou casada com ninguém e a minha irmã também não. Os nossos filhos não pertencem a mais ninguém.
Jim Halley nem sequer tenta deter‑me, já fui longe demais. O representante do ministério pede a palavra, para expôr uma hipótese.
‑ Admitamos que nós conseguimos os vistos para vocês todos. Iam para Inglaterra com os vossos maridos? Senão, não há qualquer meio de levarem as crianças... Se partirem com os homens, poderão levar as crianças.
A Nadia olha para mim, eu olho para ela, e respondemos em conjunto:
‑ Está bem.
Teríamos aceitado o que quer que fosse para sairmos do Iémen com as crianças.
Ele dirige‑se em seguida a Samir e a Abdullah:
‑ E vocês? O que pensam disso? Aceitariam partir para Inglaterra com as vossas esposas e os vossos filhos? Se isso fosse possível, bem entendido...
Os dois rapazes sacodem a cabeça em silêncio, único sinal do seu acordo àquela proposta. O representante do ministério parece aliviado por ter encontrado uma solução possível.
‑ Bem, vamos tratar dos vistos dos maridos.
Essa conclusão significa o termo da reunião e saimos em boa ordem, enquanto eu assedio Jim Halley com perguntas.
‑ Acredita nisto? Isso é possível? Vai resultar?
- Agora, tudo depende do British Home Office, se ele conceder os vistos aos rapazes, é possível... isso quer também dizer que vocês ainda têm de esperar por essa decisão, que corre o perigo de levar tempo, mas não acredito muito nisso. Acho que eles vão recusar.
‑ Porquê? Porquê, se esse é o único meio de nos fazer sair daqui?
‑ Eles pensarão que se trata de um concluio, de um plano organizado a longo prazo para facilitar a entrada dos vossos maridos em Inglaterra.
‑ Mas toda a gente sabe que nós os detestamos! Há anos que eu e a Nadia não paramos de o dizer e de o escrever...
‑ Esse é um argumento a favor, com efeito. A solução talvez esteja aí... Tenho de lhes dar a preencher os formulários de pedido de visto, vamos fazê‑lo imediatamente.
Os dois "maridos" têm de fazer prova de que poderão suprir às suas necessidades em Inglaterra. Samir anuncia a Jim Halley que possui doze mil libras economizadas na Arábia Saudita. Abdullah, por seu turno, pretende que o seu pai ajudará e que conseguirá o equivalente a isso. Perguntam‑lhes se já fizeram um pedido de visto para Inglaterra. Quanto a Samir, a resposta é não. O meu "marido" esteve, no entanto, em Inglaterra para se tratar e espero que não minta. Jim regista ipsis verbis as declarações.
Há que esperar seis meses para se ter uma resposta. Seis longos meses... Perante o meu ar desesperado, Jim promete que vai tentar fazer acelerar as coisas, e deixa‑nos.
A mamã rumina em qualquer coisa. Eu conheço‑a, franze o sobrolho, os seus olhos pretos tornam‑se pequenos, perpassados por uma chispa... Não quer falar diante dos rapazes. Mas uma vez sós no apartamento, entre mulheres e crianças, tendo os rapazes saído à procura de qat, a mamã explica:
‑ Descobri que o Abdul Khada e o Gowad fizeram um pedido para os filhos, em 1980... Um pedido de vistos de entrada em Inglaterra, baseando‑se no facto de eles estarem casados com cidadãs britânicas. Mas exigiram‑lhes que comparecessem na embaixada com as esposas, para um interrogatório conjunto. Evidentemente que lhes era impossível, isso punha termo às suas aspirações, já que os casamentos eram ilegais. Então, abandonaram a ideia. Mas o seu pedido continua em Sanaa, na embaixada britânica. Ficou sem efeito. Isso é a prova de que o vosso pai vos vendeu a esta gente essencialmente por esse motivo. O que ele vendeu foi a vossa nacionalidade.
Se nós não tivéssemos resistido, se eu não tivesse gritado o meu ódio desde o primeiro dia, teriam conseguido. Compreendo agora melhor porque é que Abdul Khada tentou tudo comigo. A pancada, a estupidificação daqueles seis meses em Hays, no seu restaurante... E a violação imposta, imediatamente, sob ameaça, na esperança de que eu engravidasse depressa e que o meu pretenso casamento se tornasse efectivo. Deu‑se mal, com aquele filho doente... Foram precisos cinco anos para que o Marcus nascesse.
A mamã ficou connosco no apartamento de Taez durante quatro semanas. Protegendo‑nos de qualquer contacto com Samir ou Abdullah. Por vezes, isso provoca discussões.
‑ Vou dizer ao governador, ele manda a tua mãe de volta para Inglaterra... Ela não tem o direito de me impedir de me deitar contigo...
Vai falando, macaquinho... O teu pai não está cá para me atar à cama ou para me bater. Tem demasiado medo, o teu pai...
Entretanto, circula toda a espécie de rumores a nosso respeito. Dizem que Abdul Khada e Gowad subornaram o governador e que nós jamais deixaremos o país... Ou, pelo contrário, que partiremos todos dentro de seis meses... Alguém nos telefona, dizendo que conhece o presidente, e compromete‑se a fazer‑nos sair do país numa semana... Um outro afirma que o nosso pai mandou uma carta ao governador, para que lhe garantisse que nós nunca haveríamos de sair daqui...
Hoje, a mamã tem de ir a Sanaa de avião, para reaver o seu passaporte, no qual Jini mandou prolongar o visto. Nós acompanhamo‑la ambas ao aeroporto. Na sala de espera dos voos domésticos, estão afixadas as nossas fotografias, com ordem para nos deterem. Estamos dadas como fugitivas... e os guardas têm de nos impedir de nos aproximarmos dos aeroportos. Aquelas fotografias, ali pregadas aos olhos de todos, constituem a pior das humilhações. Considerar como criminosas evadidas da prisão duas mulheres que só querem regressar ao seu país de origem! Os monstros... os monstros... Levam‑nos à força, entre dois guardas, directamente para o gabinete do chefe da polícia, Abdul Walli.
‑ Porquê?
Urro de raiva.
‑ Porquê?
‑ Enquanto o caso não estiver oficialmente resolvido, é assim. Uma mulher não pode deixar este país sem autorização do marido.
Por instantes, tenho a impressão de me banhar num charco de imunda hipocrisia.
Uma mulher iemenita está do nosso lado. A presidente da associação feminina de Taez. Aquela mesma que já nos interrogou. Moderna, bonita, envergando roupas ocidentais, culta, conhecedora do estrangeiro, ela goza de uma situação social raríssima neste país.
Um dia, conto‑lhe que, aquando do seu último parto, uma velha da aldeia "operou" Nadia para facilitar a saída da criança, que a incisão efectuada foi feita com uma navalha de barba, sem desinfectante, e que Nadia continua a sofrer com isso. Ela propõe levar‑nos discretamente a uma das suas amigas, médica.
Somos submetidas a um exame completo numa clínica bastante moderna. Suponho que para se ter acesso a este género de auxílio é necessário ser rico, culto e ter relações. Nadia sofre de uma infecção, precisa de um tratamento com antibiótico que imediatamente lhe ministram. Depois, a médica pergunta‑nos:
‑ Vocês utilizam meios anticoncepcionais?
‑ Não.
‑ Então como é que fazem?
‑ Tentamos ter o menos de relações possível...
‑ Têm sorte em não terem engravidado mais vezes...
Dá a cada uma de nós uma provisão de pílulas, explicando‑nos bem como tomá‑las.
‑ Sempre que posso, dou‑as às mulheres de cá. O único problema é evitar que os homens o saibam... Eles recusam a contracepção, quando a mortalidade é terrível entre nós e muitas mulheres morrem de parto, por falta de cuidados adequados e sobretudo de informação. Estamos a tentar melhorar isso na cidade.
Penso nas mulheres de Hockail e de Ashube... No meu parto no chão de uma casa fétida, que tresanda a estábulo e a fumo das lamparinas. Naquela mulher que me arrancou o ventre como o teria feito a uma cabra... Aquelas pilulazinhas azuis são um presente mágico. A mamã está nas suas sete quintas, e daí em diante sussurra‑nos todos os dias ao ouvido:
‑ Tomaste‑a? Não te esqueceste?
Eu mais depressa me privaria de comer do que deixaria de engolir a minha pílula. Mesmo tendo a mamã de partir de novo desta vez e de nos deixar à mercê daqueles rapazes... A nossa provisão é de seis meses. Daqui até lá, teremos deixado o país.
Esta pílula que eu engulo, no nariz e no bigode de Abdullah, devolve‑me a pele de inglesa. Nunca mais me há‑de apanhar.
Um dia, sem ter prevenido, o meu irmão Ahmed tocou à porta. A mamã vê‑o entrar e diz:
‑ Bom dia, meu senhor...
Aquele rapaz alto, de vinte cinco anos, é para ela um desconhecido. O seu filho...
Empurro Ahmed para o corredor.
‑ Mamã, este é o Ahmed... Ahmed, esta é a mamã...
Repito em inglês para ela, em árabe para ele, e eles caem nos braços um do outro. Vinte e três anos os separam. Não sabem o que dizer um ao outro. Ela encara‑o, toca‑lhe, apalpa‑o.
‑ Estás bonito...
Ahmed tem um rosto terno, um olhar suave, sobrancelhas espessas, em vincado acento circunflexo, que por contraste ainda acentua mais essa suavidade. O seu próprio sorriso é terno. Um arzinho de família com Nadia e por instantes aquele mesmo olhar triste. A mamã está tão feliz que anda às voltas sem parar. A conversa não é fácil, tenho de lhes servir de intérprete. Já contei toda a história de Ahmed à mamã, mas ela quer saber mais, e mais, e mais ainda. Não se pode recuperar vinte e três anos em alguns dias.
Ahmed está acompanhado por um irmão do nosso pai, chegado da Arábia Saudita. É mais novo do que ele e assemelha‑se‑lhe muito fisicamente, mas nada moralmente. De carácter vivo, inteligente, o nosso tio Kassan, ao saber da nossa história, ficou extremamente chocado com a conduta do seu irmão mais velho. Está inequivocamente do nosso lado. Toda aquela publicidade em torno da família o envergonhou. Dir‑se‑ia que o nome Muhsen deu a volta aos jornais.
Ahmed, por seu lado, deixou o exército e tem um objectivo.
‑ Pergunta à mamã se ela me pode ajudar a partir também. Não quero continuar no Iémen. Se pudesse viver em Inglaterra... e trabalhar lá, seria menos infeliz.
Apelamos uma vez mais para o contributo de Jim Halley, mas no caso do Ahmed isso é relativamente simples. Ele é súbdito britânico pela mãe e não é nada complicado obter‑lhe um visto. Os homens têm mais sorte. Talvez Ahmed regresse a Inglaterra antes de mim.
Como terá o nosso pai tido conhecimento da decisão de Ahmed, é ainda um mistério do telefone árabe. Mas põe‑se a fazer tudo o que está ao seu alcance para impedir o filho de deixar o Iémen. De início, parece‑me que não conseguirá grande coisa a partir de Inglaterra. Pois engano‑me.
Uma manhã, o meu tio chega a nossa casa preocupado e pergunta‑nos se vimos o Ahmed.
‑ Desapareceu há vários dias, estamos muito preocupados.
Ambos instalados em casa de amigos em Taez, uma família muito ocidentalizada cujo filho é médico, esperavam, como nós, pelo resultado das diligências. Ahmed não é o género de pessoa que se vá embora sem prevenir.
Sendo Abdul Wally o chefe da polícia e o nosso único verdadeiro contacto com as autoridades, começamos por nos dirigir a ele. Não está ao corrente de nada, mas promete informar‑se prontamente e um dos seus informadores traz a notícia em algumas horas: Ahmed está na prisão. Porquê? O que é que ele fez? Por enquanto, um mistério.
Sem esperar um instante, decido irmos nós mesmos informar‑nos à prisão e toda a família, a Nadia, a mamã, o meu tio e eu, incluídas as crianças, se mete num táxi.
à entrada, diante de um enorme portão de aço, um guarda tem uma espingarda em bandoleira. Interpelo‑o à descarada.
‑ Queria saber se Ahmed Mushen está aqui.
Ele parece surpreendido por uma mulher lhe dirigir a palavra na rua, mas mostra‑se bastante amável.
‑ Vou perguntar.
Passados alguns minutos, está de volta.
‑ Está aqui.
‑ Porque é que o meteram na prisão?
‑ Não sei...
‑ Então quero vê‑lo.
‑ Não, isso é proibido. É preciso uma autorização...
‑ Quero vê‑lo, sim, é meu filho.
- Não vale a pena, ele será solto em breve.
‑ Quem lhe pagou para dizer isso? Aqui toda a gente funciona a dinheiro. Temos de lhe pagar para o ver?
Uma vez mais a cólera me faz gritar na rua. O guarda aponta a espingarda para mim, rugindo:
‑ Calas‑te ou não?
‑ Vá, dispara! Vá!
O meu tio salta do táxi e pega‑me no braço, tentando afastar‑me e acalmar‑me.
‑ ... Acalma‑te... é inútil gritar contra um carcereiro. Não serve de nada... estás a ficar maluca...
É verdade, por momentos enlouqueço. Já não controlo os meus nervos. Aqui, há anos que roo as unhas. A insónia deu cabo de mim. Neste momento, tenho a impressão de que todas aquelas histórias, aquelas lengalengas, aquelas esperas, vão acabar comigo.
O meu tio puxa‑me para trás e obriga‑me a voltar a subir para o táxi.
‑ O Abdul Walli trata disto. Se o Ahmed não tiver feito nada, manda‑o soltar.
‑ Mas ele não fez nada! Isto é um golpe montado!
Algumas horas de angústia mais tarde, um polícia de Abdul Walli dirige‑se ao apartamento e dá‑nos informações complementares. Ahmed foi encarcerado porque teria pretendido raptar‑nos, mais o tio, para nos fazer sair do país! Convocado pelo governador, apresentou‑se no seu gabinete sem desconfiar e prenderam‑no ali mesmo. Eu tinha razão. É um golpe montado.
E eu mesma vou dizer ao governador o que penso. Quem pode acreditar que o meu irmão tenha pretendido raptar‑nos?
Saio com a Nadia, deixando as crianças com a mamã. Transpomos as barreiras de segurança, subimos as escadas e quando a secretária do governador, aquela que nos interrogou em casa de Abdul Walli, nos manda entrar para o seu gabinete estou de tal forma encolerizada que já não sei o que digo. Nadia puxa‑me pelo vestido, a secretária tenta acalmar‑me, oferece‑nos chá. Mas não vale de nada.
‑ Quero que mandem tirar o meu irmão da prisão! Vocês estão a ouvir? Estou farta de todas estas histórias, pelo que é que nos tomam? Por gado?
‑ Mas eu não posso fazer nada, é preciso esperar...
‑ Eu recuso‑me a esperar, estou farta de esperar. Há anos que espero voltar para a minha terra! Não espero mais um minuto!
Enquanto assim vitupero, alguém deve ter contactado com Abdul Walli, pois este aparece furioso no gabinete da secretária.
‑ O que é que vos deu para agirem assim? Estão as duas doidas! Ninguém vos autorizou a intervir...
‑ Estou‑me completamente nas tintas para as vossas autorizações.
‑ Venham comigo imediatamente.
‑ Eu não vou a lado nenhum enquanto o meu irmão não estiver cá fora.
O chefe da polícia de Taez nunca lidou, por certo, com uma rapariga como eu. Confrontamo‑nos com o olhar durante alguns segundos... depois ele cede.
‑ Então, vem, vamos buscá‑lo.
Ignoro se a minha intervenção lhes perturbou realmente a pequena tramóia, talvez tivessem tido medo que a imprensa fosse posta ao corrente, por intermédio da embaixada. Seja como for, voltamos imediatamente à prisão, de táxi. Abdul Walli dirige‑se sozinho aos serviços da administração e uma meia hora mais tarde volta a sair com Ahmed. O meu irmão precipita‑se imediatamente para dentro do carro, pálido e terrivelmente abalado.
‑ Um guarda bateu‑me. Eles ameaçaram‑me. Disseram‑me para deixar de me meter nos vossos assuntos... Que isso não me diz respeito... Não percebi nada daquilo...
Rumino contra aquela gente, aqueles oficiais, aqueles polícias, aqueles governadores que fazem o que querem, sem prova, sem advogado, sem nada... Aqui, o indivíduo está à mercê deles, e nós também.
As questões com a polícia não acabaram. Uma manhã, encontramo‑nos sozinhas com a mamã no apartamento, batem à porta. Abro, é um polícia em uniforme, boné na cabeça e espingarda às costas. Dir‑se‑ia que estão sempre prontos a disparar... Atrás dele, um homem de djellaba branca, com cara de mau, a voz irritada.
‑ A vossa mãe está aqui?
‑ Está ali.
Indico ao homem a divisão onde nós vivemos, pejada de colchões, de paredes nuas, sem qualquer móvel.
O homem avança e dirige‑se à mamã num tom artificial e em mau inglês.
‑ Myriam Ali... informo‑a de que o seu visto para o Iémen expirou! Está a infringir alei!
- De maneira nenhuma, não expirou. Ainda tenho quatro dias...
‑ Sabe o que acontece quando se ultrapassa a data limite?
O polícia ao seu lado segura na espingarda, de dedo no gatilho.
A mamã recusa‑se a deixar‑se intimidar e repete, segura de si:
‑ O meu visto ainda não expirou.
‑ Dê‑me o seu passaporte!
A mamã estende‑lhe o passaporte e ele põe‑se a folheá‑lo com circunspecção.
‑ Quem o mandou? ‑ insiste a mamã.
Ele não responde.
‑ Devolva‑me o meu passaporte! E saia desta casa. Ainda tenho quatro dias e não hei‑de partir antes! A vossa atitude é ridícula!
O homem da djellaba branca devolve‑lhe o passaporte com ar furioso, estala os dedos em direcção do polícia e saem os dois.
Começamos, infelizmente, a habituar‑nos a esta forma grosseira de tentar intimidar as pessoas.
Já só restam quatro dias à mamã. Quatro míseros, escassos dias. E é exactamente antes da sua partida que sabemos da última nova. O British Home Offlce devolve os pedidos de visto dos nossos "maridos". Eles mentiram ambos. Samir não tem dinheiro nem nenhum meio de suprir às suas necessidades em Inglaterra. Quanto a Abdullah, mentiu ao pretender nunca antes ter pedido um visto. Pedidos recusados. Jamais haveremos de partir com os nossos filhos. Se obtivermos autorização para nós, teremos de os deixar no Iémen.
Partir deixando o Marcus para trás, é difícil de encarar. A ideia dilacera‑me. "Esta pobre amostrazinha que mal anda, que precisa de mim, que chora mal eu vou a qualquer lado sem ele... E a Nadia..."
A mamã parte. Não tem opção e de qualquer forma mais vale que volte para Inglaterra para nos ajudar; aqui, não pode grande coisa. Mas a sua presença ao nosso lado era um tal reconforto. Uma tal muralha em relação aos "outros" dois. Os "maridos" mentirosos, frouxos. Mentiram de propósito. Abdul Khada dirige uma espécie de mafia de homens, da qual o meu pai faz parte. Podem meter o Ahmed na prisão, podem obrigar‑nos a cantar. Podem tudo.
Desta vez, somos autorizadas a acompanhar a mamã no Land Rover de Abdul Walli até ao aeroporto de Taez. Os "maridos" acompanham‑nos. O edifício é novinho em folha, de vidro, e dele pode‑se ver os aviões aterrar e descolar.
Restam‑nos agora dez minutos antes da partida. Dez minutos durante os quais temos a horrível sensação de estarmos condenadas a viver para sempre neste país. Dizer‑lhe adeus, abraçá‑la, vê‑la dirigir‑se para a porta de embarque, em direcção àquele avião... Quando desde há tanto tempo só desejamos uma coisa, subir, também nós, para um avião, com ela. Escapulirmo‑nos para o céu... Meu Deus, escapulirmo‑nos para tão longe que o nome deste maldito país deixe de existir na minha cabeça.
Nadia chora e Haney rebenta em soluços ao mesmo tempo que a mãe; tem três anos e começa a compreender muitas coisas. A mamã partiu a chorar, voltou‑se a chorar para dizer:
‑ Não se preocupem... está para breve, juro‑vos...
Abdul Walli acompanha‑a até à alfândega e nós ficamos do outro lado da parede de vidro, a fazer sinais, com as crianças nos braços.
‑ A Mamy vai‑se embora, Marcus... Diz adeus à Mamy.
Também Samir e Abdullah disseram adeus, os hipócritas. Reapossam‑se de nós, agora. Com as suas mentiras.
Esperamos que o avião levante voo, que nos passe por cima da cabeça, que já não passe de um pontinho.
Temos de voltar. No caminho do aeroporto, o carro pára num parque onde foi construído um grande carrocel para as crianças.
Samir e Abdullah brincam aos pais de família, pela primeira vez. As crianças divertem‑se, e os nossos "maridos" divertem‑se também. Para os filhos, eles são mais uns irmãos do que verdadeiros pais. O Abdullah nunca deu mostras de um sinal de afecto por Marcus. Nunca lhe comprou uma roupa; se a criança precisa de qualquer coisa, tenho sempre de lha pedir. Acho que ele não se deu conta de que era pai. Ou então não se interessa. Para ele, o filho chama‑se Mohammed, isso é quase tudo o que sabe.
Aquele parque, aquele carrocel, as crianças a brincar com os pais, e nós duas observando em silêncio, de peito oprimido. Cena fictícia de vida famíliar no Iémen... Enquanto um avião voa para Inglaterra.
Quem pode saber que por detrás do véu preto as mulheres choram e por que choram elas? Mas muito se divertiram as crianças.
O Marcus está doente. Deixou de comer, emagreceu muito e vejo‑o enfraquecer de dia para dia, sem perceber nada. Dir‑se‑ia que a vida o abandona lentamente. Desta vez, Nadia e eu levamo‑lo nós mesmas ao hospital.
"As inglesas de Taez" são agora famosas para a maior parte das pessoas da administração e mesmo na rua. Com ou sem véu, reconhecem‑nos. Essa notoriedade equívoca mostra‑se útil, pois conduzem‑me directamente ao gabinete de um médico para examinar o Marcus, enquanto a longa fila de espera habitual se estende pelos corredores.
Também este médico que nunca vi parece conhecer‑me. Nada me diz que ele seja realmente médico, de resto pode até ser um simples enfermeiro. Mas isso é‑me indiferente, quero pura e simplesmente saber de que sofre o meu filho e que o tratem.
O médico leva‑nos para uma sala equipada como um laboratório, onde são feitas radiografias e recolhido sangue. É jovem, na casa dos trinta, alto, louro e simpático. Parece surpreendido com a minha intrusão e examina atentamente Marcus.
‑ Está muito fraco. Antes de mais nada, temos de lhe analisar o sangue.
‑ O que é que ele tem?
‑ Não posso responder. É necessário um exame.
Marcus geme, com a picada da agulha. Tiram‑lhe várias amostras de sangue. Está tão pálido que tenho a impressão de que lhe vão tirar as últimas gotas de vida que lhe restam.
- Volte amanhã para saber os resultados, veremos o que há a fazer. E venha directamente para aqui, não vale a pena esperar.
No dia seguinte, após uma noite de angústia a vigiá‑lo, estou de novo diante do médico e o seu ar grave gela‑me o coração.
‑ O que é que ele tem?
‑ Precisa de uma transfusão urgente, é grave. Não está longe da morte, mas tem sorte, podemos salvá‑lo. Se não o tivesse aqui trazido, não teria resistido muito tempo.
‑ Como é que se arranja sangue?
Em Inglaterra, nos hospitais, arranja‑se sangue lá mesmo, mas no Iémen é coisa que não existe.
‑ O melhor seria tirar sangue ao pai. Se o grupo for compatível...
‑ Não quero. Recuso‑me a que ele receba seja o que for do pai.
Abdulah foi operado na Arábia Saudita e sabe Deus o sangue duvidoso que recebeu em transfusões... Em certos países, o tráfico de sangue é um perigo público. Além disso, só a ideia de que o meu filho seja assim ligado ao homem que eu detesto repugna‑me. Não o exprimo diante do médico, mas ele parece compreender a minha repulsa.
O meu grupo, que conheço da escola, em Inglaterra, não é compatível. O médico toma uma decisão:
‑ O seu filho e eu partilhamos do mesmo grupo. Vou tornar a fazer um teste, por precaução, e se der positivo, dou‑lhe do meu sangue.
Um segundo médico vem tirar‑lhe uma saqueta de sangue, cumprindo‑se a operação em cerca de vinte minutos. Aquele homem é maravilhoso. Porque fez ele aquilo? Não deve dar o seu sangue a toda a gente, é impossível. Imagino que, informado da nossa situação, se esforce por reparar à sua maneira o mal que aqui nos fizeram.
Deitamos Marcus numa marquesa. Está tão fraco que já não consegue abrir os olhos. O médico procura uma veia naquele corpinho frágil cuja pele se tornou cinzenta, pálida. Os braços estão magros demais, não se encontra uma veia suficientemente saliente e sólida para aguentar a transfusão. Apenas uma veia da testa é perfeitamente visível, em relevo por baixo da pele fina.
‑ Vamos injectar o sangue por aqui, é a única solução.
A agulha enterra‑se, todo o meu corpo se contrai, e Marcus começa a gritar e a debater‑se. Tenho de o manter entre os meus braços, tenho de ver o sangue correr para a cabeça do meu filho, lentamente, enquanto o impeço de se mexer. Aquilo faz uma impressão atroz, o medo de que a agulha se desloque, de que o precioso sangue se derrame no vazio... Ao cabo de alguns minutos, Marcus adormece e a transfusão continua. Ficamos ali duas horas. Ele está nos meus braços, o meu rosto inclinado sobre o seu, respiro suavemente, à espreita do menor dos seus reflexos, vigiando a lenta progressão do sangue vermelho pelo tubo até à agulha.
E durante essas duas horas sofro de uma culpabilidade monstruosa. Em breve o vou abandonar. A decisão de partir, deixando‑o aqui, há muito que a tomei no meu íntimo. Mas ali... vendo‑o naquele estado, sabendo que ele ficará só no futuro... entre que mãos? Tratado de que forma? E se ele morresse? Se morresse mesmo agora? Ali, nos meus braços... o horror petrifica‑me.
Nadia espera a um canto da sala, não avisámos ninguém. Eu não queria que o pai soubesse, não queria que lhe tirassem sangue. Vejo‑lhe o sangue doente, apodrecido, mau. Aquilo é mais forte do que eu, não teria suportado que ele lhe desse uma só gota. Mas agora preciso de ajuda para transportar o meu filho. Nadia volta ao apartamento, para pedir aos rapazes com que pagar o táxi.
Regressa com Abdul Walli, que está com um ar furioso pela minha iniciativa. Nadia explica‑me que não encontrou ninguém em casa, deviam ter ido mastigar qat para qualquer lado. Conversar interminavelmente entre homens, bem me pergunto de quê. Beber chá, mascar qat, tagarelar, toma‑lhes o tempo todo e as mulheres que se desenrasquem.
Abdul Walli quer saber o que se passa, mas afinal também eu não sei grande coisa. De que sofre o meu filho? O médico, que veio regularmente vigiar a transfusão, nada me disse para além de que ele precisava de sangue.
De resto, tinha razão, já que Marcus recupera pouco a pouco as cores. As faces pálidas tornaram‑se rosadas. A cara está menos crispada, dorme descontraído, a sua respiração é calma.
Levamo‑lo de volta para o apartamento e nos dias seguintes recupera forças regularmente, come normalmente. Ao vê‑lo brincar de novo no chão, em cima do colchão, com o pequeno carrocel de todas as cores que a mamã lhe trouxe de Inglaterra, a angústia reapossa‑se de mim. Terá os mesmos problemas de saúde que o pai, talvez a mesma malformação que tornará necessária uma operação. Não sei grande coisa de medicina e ainda menos desde que estou cativa no Iémen. Quando eu mesma estou doente, aguento‑me sozinha o máximo de tempo possível. Não confio minimamente nos medicamentos deles, nas suas estranhas decocções. Sofri de malária e curei‑me quase sozinha. Sofri de muitas coisas, sem sequer o dizer. O médico da aldeia ajudou‑me algumas vezes. Quanto ao resto, endureci, tudo em mim se tornou pedra sólida. Posso resistir fisicamente a muitas coisas, disso me dei eu conta.
Não falo à Nadia, frágil demais, de nenhuma das angústias e dos medos que dissimulo na cabeça. E fora ela não há ninguém. Nem sequer à mamã contei tudo dos meus sofrimentos. Há coisas inexprimíveis. O sofrimento de ter de deixar Marcus no dia em que abandonar este país é uma dessas coisas inexprimíveis. Indizíveis. A minha única certeza é que como rapaz não terá de sofrer. Não sei se conseguiria deixar uma rapariga neste país. Não sei. Não creio. Mas deixar um rapaz sólido e em plena forma seria mais fácil do que abandonar um ser fraco que terá de lutar pela vida...
Há algumas semanas que a nossa situação se deteriorou. Uma complicação à iemenita, quase inexplicável.
Pela parte de Nadia, o problema é, por assim dizer, relativamente claro. Soubemos por Jim Halley que Samir podia afinal obter um passaporte inglês, pois o seu pai, Gowad, vira ser‑lhe recentemente concedida a nacionalidade britânica. O cúmulo! Mas Samir não parece ter pressa de ir pedir o passaporte à embaixada. Parece‑me que isso constitui uma oportunidade para Nadia. Poderá ser a primeira a deixar este país, e com os filhos.
Eu prefiro partir depois dela, continuando a temer que não tenha vontade para se bater sozinha. Assedio Samir, tanto mais que o meu próprio passaporte está pronto na embaixada de Sanaa. A mamã deixara os nossos papéis a Jim, com medo que aqui em Taez nos deixássemos roubar e que eles desaparecessem da mesma forma que os originais.
Finalmente, Samir decide‑se. Partimos para Sanaa no Land Rover de Abdul Walli, para reaver os documentos. Abdullah não vem, não sei sequer onde está, deixou o apartamento sem deixar recado. Pessoalmente, isso de maneira nenhuma me incomoda. Não me serve para nada, bem pode desaparecer para onde quiser.
Partimos de manhã muito cedo, como de costume. A estrada de Taez para Sanaa é asfaltada, a viagem dura cerca de quatro horas! Ao fim da manhã, chegamos aos arredores de Sanaa, onde Abdul Walli tem uma casa, mais pequena do que a de Taez mas igualmente bela. Na capital está frio e húmido. Frio e húmido dentro de casa, que há vários meses não é habitada. Encontramo‑nos num bairro rico, sendo todas as moradias vizinhas rodeadas por muros altos. A arquitectura é magnífica. As fachadas, ornamentadas com desenhos geométricos pintados de branco, acentuam cada troço, cada janela. Algumas são decoradas com alabastro translúcido. As mais luxuosas possuem janelas de vidros duplos. à noite, as luzes fazem resplandecer cada vidraça. Um cenário das mil e uma noites... O contraste entre o bairro rico e os bairros pobres é enorme, tanto aqui como em Taez.
Abdul Walli orgulha‑se da sua casa; os seus vizinhos são um advogado, um médico, um industrial... É então ali que devemos esperar pelos nossos passaportes.
Samir em breve regressa da embaixada e dá‑nos conhecimento de uma complicação. O seu pai não preencheu um documento indispensável e recusa‑se manifestamente a fazê‑lo.
Parece evidente que Gowad não quer Nadia em Inglaterra, é por isso que impede o filho de obter os papéis. Para sair do país, com os filhos, Nadia tem na realidade de figurar no passaporte de Samir. A menos que aceite partir sozinha... como eu. A rede estendida à nossa volta é sempre a mesma, seja o que for que façamos. Esperamos ainda assim que nos entreguem os nossos passaportes pessoais. Um passaporte é qualquer coisa... Desde a minha partida para "férias", em 1980, nunca voltei a ver o meu.
Temos de tornar a partir para Taez amanhã e já ninguém fala dos nossos papéis. Os meus ainda não estão prontos. Abdul Walli tem de os mandar selar, ou não sei quê. A mamã anunciou‑me, no entanto, numa carta, que estava tudo em ordem. Dir‑se‑ia que viemos cá inutilmente e eu não posso fazer nada para acelerar as coisas. Aguardava aquele passaporte como a um tesouro. Sonhava com ele, via‑o já nas minhas mãos, com todos os seus selos, qual livrinho da liberdade.
O Land Rover leva‑nos de volta para Taez e Abdul Walli mostra‑me um documento, coberto de escrita árabe.
‑ Isto é o teu divórcio.
Torna a meter imediatamente o papel no seu bolso.
‑ Que divórcio?
Estou em estado de choque. Nunca ninguém me falou de divórcio.
‑ Porque é que preciso de me divorciar? Eu nem sequer sou casada.
‑ Tu estás cá há tempo bastante para conheceres os nossos usos. É‑te necessário um documento que prove que não és casada. Quando o divórcio for decretado, serás livre de viveres onde quiseres. Aqui em Taez com o Marcus, ou então... em Inglaterra, sem ele. Isso hás‑de ser tu a escolher.
‑ E Nadia?
‑ Por enquanto, Nadia fica cá com o marido.
‑ Mas quem é que decidiu este divórcio?
Abdul Walli tem um gesto fatalista.
‑ Pouco importa, seja como for, precisas dele...
Aparentemente, o governo iemenita está farto de mim. O ministro dos Negócios Estrangeiros estabeleceu contacto com a embaixada britânica, dando‑lhe a escolher: ou Abdullah assina um papel autorizando‑me a deixar o Iémen... ou aceita o divórcio.
Abdullah aceitou o divórcio. Pergunto-me como conseguiram eles convencê‑lo. O pai era contra e ele tem‑lhe tanto medo! Hei‑de interrogar um dos polícias de Abdul Walli, bastante compreensivo e que já várias vezes me informou dos rumores e dos sobressaltos do nosso caso.
‑ Meteram o Abdullah na prisão. Está encarcerado algures, a cinco horas de caminho da cidade.
‑ Por isso é que não foi a Sanaa, continua encarcerado! Mas porquê? O que é que ele fez?
‑ Nada... salvo que se recusava a assinar. Não pára de chorar dentro da cela, o pai tinha‑o proibido de se divorciar. Foi preciso convencê‑lo...
‑ Isso quer dizer que se querem desembaraçar de mim?
O meu informador não pode responder a esse género de pergunta. Mas Abdul Walli, esse, pode. Ele sabia de tudo e não me disse nada. Esta maneira de nos manter numa incerteza permanente é pavorosa. Levar‑me a Sanaa, para ir buscar um passaporte que não existe, sabendo que Abdullah está na prisão...
‑ É verdade que o Abdullah está na prisão, Abdul Walli?
‑ É verdade, mas vai sair.
‑ Porque é que não me disseram nada?
‑ Porque ele recusava. Recusou durante um bom bocado. Não valia a pena informar‑te antes. O pai dele não estava de acordo, e os filhos...
Obedecem sempre aos pais. conheço o refrão.
‑ Mas, uma vez mais, não estou legalmente casada com ninguém!
‑ Assinaste um papel há seis meses, quando aqui chegaste...
‑ Isso era para ter a guarda das crianças, apenas um papel administrativo... O senhor disse naquela altura, que não havia outra solução...
‑ Por conseguinte, eras casada e agora divorciaste‑te.
Subtil. Não posso mais com todos aqueles papeis, com todas aquelas negociações, todas aquelas ssimulações... A única coisa que me faz sorrir realmente é a cara de Abdul Khada nesta altura. Terá grande dificuldade em voltar a casar o filho e precisará de muito dinheiro. Mais do que aquele que alguma vez conseguirá arranjar. Quem havia de querer casar com Abdullah?
‑ Posso então partir? Logo que tenha o meu passaporte?
‑ Tens de esperar três meses.
‑ Três meses porquê?
‑ Para termos a certeza de que não estás grávida.
As minhas pílulas nunca me abandonaram desde a partida da mamã. Mas ele não precisa de o saber agora.
‑ Depois, terás de deixar Marcus à tua irmã.
‑ Como ter a certeza de que é ela que fica com ele?
- Na realidade, ele devia voltar para casa dos avós... dado que te divorcias. Mas Nadia é da tua família...
"Ward... a horrível Ward e os seus olhinhos mesquinhos, a tratar do meu filho. O filho da "puta branca"..."
‑ Prometa‑me uma coisa. Que Nadia fica em Taez. Se ela ficar na cidade, eles não virão buscá‑lo.
‑ Está prometido.
Prometido por Abdul Walli. Terei de me contentar com isso. É o chefe da polícia, ajudou‑nos. à sua maneira, mas essa maneira foi ainda assim preciosa no deserto onde nos encontrávamos.
Marcus. A minha cabeça não quer pensar mais, já não tem planos, já não tem escapatória a propor. Marcus crescerá sem mim. Com Nadia, isso é uma certeza. E espero simplesmente que quando eles deixarem a minha irmã partir com os filhos, Marcus possa acompanhá‑la.
Ela e eu temos esta noite uma grande discussão.
‑ Eu não tenho medo que tu partas, Zana. Faz o que puderes, lá, para me levares de volta para Inglaterra. Eu sei que hás‑de fazer tudo. És tão forte.
‑ Mas tu não tens passaporte, o do Samir não está feito, Gowad continua a recusar‑se a assinar os papéis.
‑ Lá, poderás convencê‑los. Vai, Zana, Só tu podes tratar de tudo isso.Vai... eu fico com o Marcus, trato dele, dou‑te notícias, mando‑te fotografias, ele será como um filho para mim. Vai...
Abril de 1988.
Dizem que estou realmente divorciada. Fiz a pergunta a toda a gente que consegui conhecer, em casa do governador, em casa de Abdul Walli. Todos me responderam:
- É verdade. ‑ Ignoro se Abdullah saiu da prisão, ignoro se voltou para a Arábia Saudita, ignoro tantas coisas; tantas coisas ocorreram sem mim, contra minha vontade, contra mim. Neste dédalo de mentiras e de hipocrisia, julguei muitas vezes enlouquecer. Por momentos, estive‑o seguramente.
Vendida, violada, casada e divorciada, mãe de família, tudo isso à força. Quando tinha quinze anos, em Birmingham, e vivemos por cima da pequena loja deflsh and chips dos meus pais, eu sonhava com o Mackie. Escapava‑me sob qualquer pretexto para ir ter com ele, contava que ia fazer baby‑sitting a casa de uma amiga e íamos dançar ao sábado à noite. O que dançavamos nós já em 1980? Disco, rock e reggae. O que se dança agora em Inglaterra? Tenho vinte e quatro anos e não mais dancei, não mais amei desde há muito. O Mackie, o meu boy‑friend, deve ter conhecido muitas raparigas bonitas.
Se me vejo ao espelho remeloso deste remeloso apartamento de Taez, vejo uma mulher. As feições repuxadas, os olhos pisados, o cabelo baço. As minhas mãos têm ainda marcas da lenha.
A Inglaterra, Birrningham, a mamã, o Mackie, as minhas irmãs e o meu irmão, os amigos, a escola, o parque com o baloiço... Há oito anos que tanto quero reencontrar tudo isso e eis que me lembro de tudo. imagens, como postais esquecidos, surgiam por vezes durante a noite, quando não dormia, na aldeia. Via uma rua, cheia de lojas, montras cheias de vestidos, de jeans e de T‑shirts, de belos sapatos de salto alto. Uma loja de discos, de onde saíamjorros de música. Mas já não via as caras, tinham‑se tornado difusas. A de Lynette, a minha melhor amiga, por exemplo... Ela ria‑se, eu ria‑me com ela... Já não sei do quê. Lynete deve ter mudado, ter‑me esquecido. Talvez tenha filhos e um marido, autêntico, numa casa sua.
Marcus está bem. Nadia diz‑me: "Vai... e faz‑nos voltar a todos..."
Abril de 1988, e continuo sem notícias do meu passaporte. Parece que está retido pelas autoridades do Iémen, falta‑lhe um selo. Um selo, e eu abandonarei Marcus. Tem de ser. Se eu não sair daqui, nunca ninguém sairá. Se eu não sair daqui, morro, morro com este véu posto.
Abdul Walli acaba de chegar. Nadia recebe‑o, com as crianças agarradas à saia, como sempre. Eu vejo o nosso protector instalar‑se em cima dos míseros colchões que nos servem de mobília, de almofadas, de tapetes, e acessoriamente de camas. Observo‑o, perguntando‑me que outra armadilha me "estenderam".
‑ Partes dentro de dois dias para Sanaa. Podes fazer a mala.
Fico durante um bocado sem voz. Ele conseguiu. Terei eu conseguido?
‑ Vou‑me realmente embora? Vou, vou?
‑ Vais. Vou‑te dar algum dinheiro para a viagem, e para levares presentes para Inglaterra, para a tua família.
Logo que ele virou as costas, Nadia e eu saímos como tresloucadas para irmos fazer algumas compras. Mil rials... notas pequenas, bonitas notas pequenas, mil rials, e eu vou‑me embora... Dançaria na rua, se isso fosse possível. Num segundo, esqueço tudo, como uma garota. As minhas angústias em relação a Marcus e ao futuro. A alegria asfixia‑me ao ponto de chorar. Vou‑me embora.
‑ Hei‑de bater‑me, lá, bater‑me por ti. Irei ver toda a gente, hei‑de apaixonar toda aquela gente. É preciso que eles saibam. É preciso que eles impeçam este tráfico. Vender raparigas para ter a nacionalidade inglesa. Hei‑de contar tudo, sobre o nosso pai, sobre as tribos do Maqbana... sobre a escravatura das mulheres.
Compramos frasquinhos de perfume para a mamã, para Ashia e para Tina. É a primeira vez que temos dinheiro. Preciso de roupas para a viagem, qualquer coisa que se assemelhe a uma indumentária europeia. Descubro uma espécie de impermeável que desce até aos joelhos e umas calças. Em Sanaa está frio. O vento gela‑nos as faces. Mil rials... há que não gastar tudo. Nadia tem de ficar com o que sobrar. Ela tem um ar feliz, confiante.
‑ Devias comprar esta bolsinha de turco para a viagem.
Quando voltamos para casa e Samir é posto ao corrente, declara solenemente que, logo que tenha o seu passaporte, Nadia e ele irão visitar‑me com as crianças.
Quero acreditar. No fim de contas, a Inglaterra é também o sonho dele. Há‑de conseguir convencer o pai. Também Nadia parece acreditar. É preciso acreditar. Eu sempre acreditei.
Faço a minha mala. A minha mala de Inglaterra. A mesma de há oito anos. A única coisa que me resta, cheia das roupas que então usava. A minha saia às flores...
Os presentes ocupam o espaço todo. Caminho num sonho.
‑ O pior de tudo, é deixar‑te aqui, Nadia.
‑ Eu hei‑de aguentar. Fico à tua espera. Agora já não é a mesma coisa.
Isso é verdade, já não é a mesma coisa. Nós existimos, o mundo exterior conhece‑nos, sabe onde estamos. Quanto à minha irmã e às crianças, nunca hei‑de ceder.
O Land Rover está à espera. Abdul Walli mete a minha mala lá dentro, eu levo Marcus nos braços. Um polícia armado acompanha‑nos.
Pareço uma prisioneira que caminha para a liberdade, ou uma espia que vai ser trocada. Mas o meu filho, a minha irmã e os seus filhos, são mantidos como reféns. Pagarei esta liberdade com o alto preço de me bater lá adiante, no meu país.
Nadia abraça‑me. Temos de ir, o motorista instiga‑nos. No instante em que passo Marcus, ainda a dormir, para os braços de Nadia, as ideias confundem‑se‑me.
- vá... depressa!
‑ O governo há‑de ajudar‑me, tenho a certeza.
‑ Eu também... Depressa... Despacha‑te a tirar‑nos daqui...
Meu Deus, toda esta dor. Marcus fita‑me. Acordou.
‑Depressa... Tenho confiança.
O Sol ainda não nasceu, o Land Rover arranca na noite. Volto‑me e não vejo nada na ruela sombria. Marcus não chorou. Não chora quando está ao colo de Nadia. É sempre sossegado com ela. Não há‑de sofrer, é pequeno demais, não sabe do que se passa. Um dia, contar‑lhe‑ei a sua história.
Ninguém chorou. Não havia por que chorar.
Chegamos a Sanaa ao alvorecer, o land Rover estaciona diante do aeroporto e eu desfaço‑me em lágrimas.
Só há um voo directo por semana para Londres. É o meu. Não posso acreditar. É ali, diante daquele postigo, naquele aeroporto ao qual cheguei aos dezasseis anos, que começo a dar‑me conta do que me está a acontecer. Vou deixar o Iémen, deixar Nadia, Marcus e as crianças. Vou subir para aquele avião.
Abdul Walli trata das formalidades, eu espero. E a angústia ressurge. Alguém me virá prender, brandindo a minha fotografia e gritando que sou uma espia, ou uma evadida. Tenho as costas tão tensas que me doem. Seguro a mala contra o peito, como uma protecção. Está tudo em ordem, pesam a minha bagagem, levam‑ma. Ali estou eu, plantada naquele aeroporto, com os braços caídos, a minha bolsinha debaixo do braço, à espreita não sei de quê. O medo. Espreito o medo que pode voltar de um minuto para o outro.
Abdul Walli volta com um homem de uniforme e estende‑me um bilhete azul, que tenho de preencher.
‑ Para quê?
‑ Despache‑se, precisamos disso imediatamente ‑ contenta‑se em responder o homem de uniforme.
As perguntas são simples. Apelido, nome, data de nascimento, local de partida, local de chegada. Londres é o meu local de chegada. Escrevo Londres, em letras maiúsculas, e Grã‑Bretanha.
Abdul Walli estende‑me o meu passaporte. Tenho‑o comigo. Está ali, entre as minhas mãos, vermelho‑escuro, cartonado, timbrado, com uma fotografia tirada em Taez, com a mamã. Meto‑o na minha bolsa e entalo‑a debaixo do braço.
Há que esperar, agora, na cafetaria. Passa uma meia hora, durante a qual o meu cérebro funciona a toda a velociddade. "Ter‑me‑á Abdul Walli mentido em relação a este passaporte? Tê‑lo‑ia ele há já muito tempo? Será este um simples atraso administrativo? E se a polícia aparecesse? Para me levar para o Land Rover e tornar a partir para Taez." É preciso esperar e eu estou doente, fisicamente doente. O ventre contorce‑se‑me de medo, tenho frio, não consigo engolir a saliva.
Os altifalantes anunciam a partida do voo com destino a Londres. Abdul Walli pega‑me no braço, temos de nos encaminhar para a sala de partida. Estende‑me a mão, já não vejo bem, diz‑me adeus, creio, o sangue martela‑me nos ouvidos.
Tenho ainda de esperar na sala de embarque, sozinha. Já não há ninguém ao meu lado para intervir se se passar alguma coisa. Não me podem tomar por uma mulher árabe sozinha. Abro o impermeável, cruzo as pernas, sacudo os cabelos... Sou uma turista inglesa de regresso ao seu país. Há, aliás, alguns turistas. Sou uma viajante normal. Uma mulher de uma certa idade senta‑se ao meu lado, uma americana.
‑ É este o avião para Londres? ‑ pergunto‑lhe.
Ela sorri.
‑ É, claro. Para onde vai?
‑ Volto para casa, para Inglatera.
‑ Ah? É inglesa?
‑ Sou, de Birmingham.
‑ Desculpe‑me, mas pela maneira como está vestida, eu tê‑la‑ia tomado por alguém de cá, e está tão bronzeada!
‑ Fiquei cá durante oito anos... - oiço‑me responder.
As minhas calças de algodão grosseiro, aquele impermeável demasiado comprido, aquele lenço que enfiei no cabelo, não bastam.
‑ Ah sim, oito anos? Nós só ficámos três semanas, com um grupo... É tão maravilhoso, este país...
Ela fala, fala, e eu começo a sentir‑me melhor. Não me vêm raptar, aqui, ao lado de uma americana e diante de toda esta gente...
‑ Percorremos o Iémen inteiro, adorei... Mas as cidades... são tão velhas, tão deterioradas, é uma pena, vi casas soberbas...
Não faz perguntas a meu respeito, é melhor assim, eu tornar‑me‑ia agressiva. Maravilhoso, o Iémen... ela tem um ar tão livre, tão descontraído, pronta a ir para onde bem lhe parecer, de viajar à volta do Mundo, mesmo para aqui, em passeio.
Finalmente, pedem‑nos para abandonarmos a sala. Transpomos, em fila indiana, uma porta de vidro, mostrando os nossos bilhetes a um funcionário e as nossas bagagens de mão a outro. Revistam‑me a bolsa, olham para o meu bilhete... A minha garganta comprime‑se, devolvem‑me o bilhete, avanço com os outros em direcção ao autocarro, que aguarda. Depois oiço nas minhas costas:
‑ Eh!
A minha nuca contrai‑se; ao voltar‑me, vejo um funcionário fazer‑me sinal para retroceder. Desta vez tenho a certeza de que me vai impedir de partir. Dou alguns passos em direcção ao homem de uniforme, chocando com a fila das pessoas que se dirigem para o autocarro.
‑ Passaporte! ‑ rosna ele.
Estendo‑lhe de novo o meu precioso passaporte fulgurante, tremendo por dentro. Ele põe‑se a folheá‑lo lentamente, conscienciosamente, levando tempo, dirigindo‑me breves olhares.
‑ O que é que quer do meu passaporte? Já o verificaram! As pessoas aqui só lhe mostraram os bilhetes!
Ele não responde, limita‑se simplesmente a fitar‑me.
‑ Sabe quem eu sou? É isso? Pois bem, vou voltar para casa!
Ignoro como consigo adoptar aquele tom firme, quando já não passo de um feixe de nervos. Ele franze os olhos com ar de mau e apresta‑se a abrir a boca quando o seu colega intervém.
‑ Está tudo bem, deixa‑a passar, devolve‑lhe o passaporte.
O funcionário engole o seu protesto e devolve‑me o passaporte com um gesto brusco. Dirijo‑me rapidamente para o autocarro, os passageiros já subiram para bordo e olham‑me com curiosidade.
Meu Deus, tive tanto medo que ao subir a escada do avião continuo a não acreditar. Não sou eu que vou levantar voo. Estou a sonhar, vou acordar no meu quarto em Hockail, com o uivo dos lobos.
O avião é ínfimo. Instalo‑me junto a uma vigia, o assento do lado fica vago. Ao longe, à minha esquerda, os edifícios do aeroporto. Não tiro deles os olhos, tensa, espero ver um automóvel da polícia rodar na nossa direcção. A porta do avião vai‑se abrir, vão obrigar‑me a descer... Roda, vá lá, roda... descola... embrenha‑te céu dentro antes que me agarrem no último minuto... Esse minuto não acaba.
O avião ganha velocidade e salta para o ar. Invade‑me uma imensa excitação. Desta vez consegui. Por baixo de nós, campos imensos. Nem sequer vi Sanaa desaparecer.
‑ Deseja alguma coisa?
Não tenho fome, não tenho sede, tenho sobretudo necessidade de respirar. Estamos no período do Ramadão e apenas os estrangeiros pedem um tabuleiro.
‑ Gostava muito, obrigada.
Para lhes dar a entender quem sou. Não façojejum, nunca segui as regras deles do Ramadão, nunca fiz as suas orações. Eu sou inglesa. Mesmo que tenha a pele queimada pelo sol deles.
‑ Tenho imensa fome.
Fazemos escala num aeroporto, ignoro onde, exactamente, mas ainda estamos num país árabe. A espera é longa, pediram‑nos para permanecermos no avião; isso começou por me aliviar, agora preocupo‑me. Esta escala é muito demorada, estamos imobilizados há mais de uma hora quando vejo rodar para nós um automóvel da polícia, homens de uniforme. O meu coração acelera de novo. O automóvel pára ao lado do avião, mesmo por baixo da minha vigia. dois agentes imponentes, armados até aos dentes, sobem a bordo. Avançam lentamente, de mão nas armas, estão diante de mim, encaram‑me, depois vão até ao fundo do avião e tornam a passar na nave. De cabeça inclinada para a frente, contemplo o chão, como uma mulher árabe pudica, e desta vez rezo para que eles sigam o seu caminho. Rezo a todos os deuses da Terra.
Partiram. Ainda tenho a nuca curvada e as pálpebras cerradas. As articulações dos meus dedos embranqueceram à força da crispação. Dez minutos depois, o avião levanta de novo voo e eu oiço os passageiros conversarem à minha volta.
‑ Parecem que andam à procura de terroristas palestinianos. Verificam todos os aviões.
As horas passaram, estupidificantes. O voo devia durar oito horas. Foram‑nos necessárias dez, devido à nossa escala. Quando o microfone anuncia que vamos aterrar dentro de
alguns minutos no aeroporto de Gatwick, estou frouxa e num estado estranho. A excitação recaiu, toda a fadiga do Mundo me amoleceu os músculos.
A primeira sensação no topo da escada éo frio, a noite fria e o nevoeiro leve, penetrante. Sinto‑me terrivelmente sozinha, como se flutuasse sobre um oceano. Ninguém está à minha espera, passo a alfândega, estendo o passaporte, estou completamente vazia.
à saída da alfândega, uma mulher de fato azul‑escuro e blusa branca avança e pergunta:
‑ Você é a Zana Muhsen?
Uma pronúncia impecável, um verdadeiro sotaque inglês. É magnífico ouvir pronunciar uma simples frase como aquela.
‑ Pertenço ao serviço do aeroporto, é a senhora?
Mostra‑me uma fotografia, uma velha fotografia minha. Tinha então quinze anos...
‑ Não a teria reconhecido... desculpe, mas temos de sair por outra porta.
‑ O que é que se passa?
‑ Não se preocupe. Há demasiados jornalistas lá fora, a sua mãe está à sua espera noutro sítio, vou conduzi‑la a ela.
Reavemos a minha mala de couro, gasta, desbotada, no meio de outras bagagens modernas que desfilam no tapete rolante. E sigo aquela mulher pelos corredores, como uma sonámbula. As pessoas amedrontam‑me. Não há ninguém vestido como eu. Podia tirar este lenço, mas ainda tenho medo. É idiota. Estou livre e eis‑me com medo de mostrar os cabelos, aqui, a toda a gente.
Ao fim do último corredor, uma porta envidraçada que dá para um terreiro e um minibus que espera.
‑ É para si. Vamos levá‑la à sua mãe.
Passamos por aviões em reabastecimento ou em revisão, dois automóveis da polícia e as suas luzes giratórias alinham‑se de cada lado do minibus.
‑ Há equipas de televisão e fotógrafos por todo o lado, à sua espera. Suponho que precise de tranquilidade e que não queira enfrentar toda aquela gente. Depois de tudo aquilo por que passou...
‑ Obrigada. É simpático. Só quero a minha mãe.
O minibus pára junto de um helicóptero do outro lado do terreno. Vislumbro a mamã, em pé, ladeada por duas personagens, que ao princípio tenho dificuldade em identificar. São a Eileen e o Ben.
A hospedeira ajuda‑me a descer, aproxima‑se da mamã, e diz:
‑ Aqui tem a sua filha, Myriam.
Atirando‑me para os braços da mamã, rio e choro ao mesmo tempo, tal como ela. Oiço disparos de máquina fotográfica. Ben metralha‑nos, volteando ao nosso redor como um louco, mas eu estou‑me nas tintas.
Temos agora de subir para aquele helicóptero, para sair do aeroporto evitando os jornalistas. Eileen organizou tudo. Aquele helicóptero aterroriza‑me e subo lá para dentro fechando os olhos. A paisagem do Sussex desfila no escuro, a viagem é curta. Descemos baixando a cabeça por baixo do ressoar das pás, com o vento a fustigar‑nos as roupas. à beira de um caminho próximo, espera‑nos um automóvel e o helicóptero deixa‑nos.
Gostaria de voltar para casa. Queria Birmingham, o meu quarto, as minhas irmãs, o meu irmão, queria... mas instalam‑nos num grande hotel completamente novo. A Eileen conta que acaba de ser restaurado depois de um atentado à bomba cometido contra uma pessoa do governo.
‑ Mamã, eu gostava de ir para casa.
‑ Vamos amanhã, talvez, ou depois de amanhã. O Ben e a Eileen têm de fazer fotografias tranquilamente, fora do alcance dos outros jornalistas, compreendes? Em casa, isso seria impossível. A televisão havia de querer entrevistar‑te, e antes disso temos de deixar a Eileen acabar o seu trabalho.
Meu Deus! Não percebo nada de todas aquelas histórias de jornais e exclusivos. Estou cansada, quero voltar para casa. Comer, dormir em casa. Não fazer mais nada para além disso e pensar em Nadia.
Deixei lá uma parte de mim mesma, a minha irmã é a minha carne, o meu espírito, metade da minha vida de escrava. Pedem‑me para falar, para dizer ao governo coisas inteligentes, para ter cuidado com as palavras para não vexar ninguém, para poupar aqueles que nos podem ajudar no governo iemenita. Eileen pede‑me que confie nela. Eu sei. Tem de ser. Mas tudo é confuso na minha cabeça. A dada altura, tenho a intenção de ir ter com Nadia e as crianças...
A mamã deve estar sob tensão, pois aceita isto muito mal.
‑ Esperava receber maior reconhecimento. O que é que se passa? Queres voltar para o Iémen? Apaixonaste‑te por alguém? Por Abdul Walli, porventura?
‑ O que estás a dizer é maldoso.
‑ Eu sei, desculpa.
Eileen ouviu, e vejo‑lhe nos olhos que faz a mesma pergunta. E se a inglesinha tivesse escolhido o rico Abdul Walli, seu protector, aquele que arranjou o divórcio? Que a recolheu, que a ajudou a partir...
Lassidão, cansaço, vazio. Ben e as suas fotografias, que quer tirar na praia, de noite, ao vento, com o meu impermeável comprido demais, as minhas calças iemenitas e o meu lenço. Sei que está a fazer o seu trabalho.
Depois, há outros jornalistas, outras fotografias. Foi necessário mudar de hotel para evitar alguns deles. No dia seguinte à noite, estava verdadeiramente farta. Era aquilo, a liberdade?
‑ Ouve, mamã, se não me levarem para casa amanhã, vou sozinha.
Cederam.
Birmingham na Primavera. O centro da cidade. Aproximamo‑nos do prédio da rotunda, tudo está igual, tudo se assemelha às minhas recordações, ou então são as minhas recordações que voltam à superfície, em catadupa. As ruas, o bairro, as lojas, as pessoas na rua, a luz das montras. Recordações em turbilhões de cheiros, de imagens, de sensações gerais.
Mas nada verei do passado.
A mamã vive noutro apartamento desde que está sozinha e, para evitarmos os jornalistas, que devem continuar à nossa espreita, só vamos para lá ao fim de alguns dias. A minha amiga Lynette ofereceu‑nos guarida em sua casa.
Diante da porta de entrada da pequena casa, não faltando ninguém, como para uma fotografia, toda a família me espera. Mo, Ashia, Tina. Mudados, crescidos, adultos. Parecem-me ao mesmo tempo terrivelmente próximos e estranhos. "Toda esta vida sem mim... Em quem se tornaram eles?"
A cabeça põe‑se‑me a girar por entre os abraços, faróis que ardem de todos os lados. Dou‑me conta de que só falo de Nadia. Preciso de justificar a sua ausência, só falando dela, e daquilo. Encarregada de uma missão, a liberdade da minha irmã, carregada de uma surda culpabilidade, carregada de sofrimento, a minha única comunicação com os outros é Nadia.
Lynette, Lynnie, a minha melhor amiga aproxima‑se de mim a correr. É uma mulher, ainda mais bonita do que antes, com os cabelos curtos, tão diferente. Lançamo‑nos para os braços uma da outra, a chorar. Ela não consegue dizer mais nada para além de:
‑ Mudaste... mudaste... meu Deus, como tu mudaste...
Depois sorri por entre as lágrimas.
‑ Como estás bronzeada!
Não reencontro a minha infância. Lá longe, no Iémen, tinha congelado imagens, de uma vez por todas, no meu espírito. Eram as da infância, da adolescência acabada de encetar. O mundo que reencontro é forçosamente diferente.
Desconcertante. E faz‑me medo... um pouco.
Durante algum tempo, é‑me difícil deslocar‑me. Os jornalistas cansam‑se de esperar, tocam à porta, telefonam, pedem entrevistas que eu sou incapaz de lhes conceder. Temo enfrentar a rua. Tenho de me habituar de novo a muitas coisas, às roupas, às meias, aos sapatos, a andar de cabeça descoberta e a tornar a ver Mackie. Para isso, preciso de tempo.
Com ele, volta o desejo dos pequenos prazeres. Um bolo com creme... uma chávena de chá inglês autêntico. E fritos. Eu adorava os fritos...
Algo se imprimiu em mim, algo em mim se inscreveu definitivamente. Conseguiria viver melhor se Nadia estivesse de volta com as crianças. Mas tão‑só melhor.
Quatro ódios em mente. O meu pai, Abdul Khada, Gowad e Abdullah.
‑ Mamã... tenho de o ir ver.
‑ A quem?
‑ Ao meu pai... só ele pode ajudar Nadia.
‑ Ele não fará nada.
‑ Tenho de tentar.
Visto‑me como uma verdadeira iemenita. Calças, vestido comprido, lenço. Tenho de lhe mostrar a personagem que ele quer ver. Uma mulher muçulmana respeitável e respeitosa para com os homens, por conseguinte para com o seu pai. Quero representá‑la, suportei‑o durante oito anos por causa dele.
Chego de táxi diante do cafezinho onde a minha vida parou, em 1980. Fish and chips e odores a cerveja.
Está atrás do balcão, o senhor Muhsen. Não sinto nada. Absolutamente nada.
Envelheceu, tem o pescoço enrugado, duas longas rugas que, partindo do nariz, lhe chegam ao bigode, está mal barbeado, a sua testa começa a desguarnecer‑se. Tem um ar supreendido por me ver, alguns segundos apenas, depois exclama:
‑Zana...
E põe‑se a chorar. Eu não. Passo diante dele para me ir instalar na sala do fundo. Espero que os clientes se vão e que ele venha ao meu encontro. A paciência das mulheres iemenitas. Aprendi‑a graças a ele!
Saído o último cliente, aproxima‑se de mim, de lágrima no olho, à procura das palavras.
- eu estou desolado... desolado como que se passou... aqui tens, se tivesse sabido mais cedo... enfim... como vocês eram lá tratadas...
O meu silêncio não o ajuda.
- pois bem, teria... as coisas teriam sido diferentes.
Mente sem qualquer escrúpulo. Todos aqueles que viajaram entre a Inglaterra e o Iémen, durante estes anos, e a quem ele chama seus amigos, lhe contaram como nós éramos lá tratadas, como escravas. Ao princípio eu escrevia‑lhe, ele nunca me respondeu. Que vá para o diabo com as suas mentiras, não preciso de voltar a falar do passado. Apenas quero uma coisa, a ajuda dele em relação a Nadia.
‑ óptimo. Agora estou de volta. Como vês, continuo uma muçulmana respeitosa. Eu amo‑te, papá, e quero a tua ajuda para mandar vir a Nadia e o marido, para que possamos viver de novo como uma grande família.
Abana a cabeça, em aprovação.
‑ Irei ver o Gowad. Tu agora tens uma maior experiência da vida, falas árabe, compreendes melhor as coisas. Isso era tudo quanto eu queria para ti.
‑ É verdade. Amadureci. Vais ver Gowad?
‑ Iremos juntos, se quiseres.
‑ Está bem. Agora vou para casa.
Não foi difícil. Bastava transformar‑me em bloco de pedra por baixo do lenço, ouvir as mentiras habituais sem gritar, ser uma estátua de ódio frio e invisível.
Em casa de Gowad, no dia seguinte, precisamente à hora marcada, as mesmas roupas árabes, o mesmo lenço, a mesma atitude. Salama está presente. Vive em Inglaterra, mas como uma mulher de Hockail, e traz mais uma filhinha nos braços. Odeio‑a, também a ela, por ter abandonado os filhos a Nadia, na aldeia. Por lhe ter imposto a carga que lhe incumbia a ela, a mãe. Mas esse ódio continua invisível.
‑ Porque é que partiu assim, deixando‑nos a debater‑nos com as crianças? Nem sequer sabíamos o que se passava, onde vocês estavam, ninguém falava disso. Porquê?
‑ Vou voltar em breve. A Nadia e o Samir vêm para cá com os filhos.
‑ Eu sei.
A agressividade afila‑lhe a ponta do nariz, eu tenho de me manter calma, educada. De me calar, por enquanto. Ouvir.
O meu pai discute em árabe com Gowad, a quem também cumprimentei com respeito. Há oito anos, em casa, não compreendia uma palavra das suas lengalengas, enquanto eles faziam pura e simplesmente um negócio. Mil e trezentas libras pela Nadia, 1300 libras pela Zana. duas jovens garotinhas inglesas, muito puras, com os papéis em ordem... Hoje, compreendo perfeitamente a língua deles. Gowad promete fazer o necessário.
‑ Isso levará tempo em relação aos papéis, mas eles hão‑de vir.
Nessa noite, ao voltar para casa da mamã, ao atirar o véu e as calças para um armário, como uma actriz cansada do seu papel, não acreditava. E tinha razão, nada aconteceu até hoje.
Alguns jornalistas tentaram fazer Gowad falar. Ele fechou‑lhes sempre a porta na cara.
Eu pude beneficiar, durante algum tempo, da ajuda de Tom Quirke, o jornalista do Birmingham Post, para telefonar a Abdul Walli, para Taez. O chefe da polícia mostrava‑se tranquilizador, Marcus estava bem, Nadia e Samir mandavam dizer para não me preocupar, que estavam à espera dos papéis para breve.
Ano de 1990. Chegaram‑nos rumores, segundo os quais a Nadia teria tido mais um filho. Se for verdade, isso significa que a obrigaram a deixar Taez e que ela não pôde continuar a tomar a pílula. Tinha tanto medo de ficar grávida de novo! Desde o nascimento da Tina e daquela horrível operação à navalha de barba...
Posso imaginar o seu calvário quotidiano em Ashube. Haney, Tina, Marcus, mais um filho, para além dos de Salama... já que Salama, essa, vive em Inglaterra.
Não voltei a ver o meu pai, só hei‑de ir à sua sepultura.
Abdul Wally já não atende o telefone. Não está, está em viagem, está fora...
O nosso cônsul em Sanaa não sabe nada da minha irmã.
Os fios estão cortados.
Pergunto‑me se ela aguenta. Espero que sim. Fisicamente, precisa de ser tratada e nem em Ashube nem noutra aldeia o será. Moralmente, devem tê‑la aplacado.
Reencontrei o Mackie. Tentámos viver juntos, tive dele um rapazinho adorável, todo frisado, muito moreno como opai, o que não deve agradar ao meu pai. Mas hoje vivo sozinha com o meu filho.
Retomei os meus estudos, para comparecer ao exame que se faz aos quinze anos. Considero‑me corajosa por tê‑lo feito. A coragem e a vontade deram‑me força para sobreviver. Tanto lá como aqui, em Inglaterra.
Falaram‑me de psicanálise, de terapia. Não quero. Quero preservar o meu ódio, a minha força, e a minha esperança.
Continuamos a lutar pela Nadia. Processo internacional, difícil, demorado. Convencer a Justiça de que fomos vítimas de um rapto, de que fomos realmente vendidas e de que aqueles dois casamentos foram uma violação de tantos anos, é tremendamente complicado. Nós não somos as únicas nesta situação, todo o Mundo está cheio de desgraças idênticas. Ignoro ainda em que cume, a que altitude deste Planeta se esconde a verdadeira liberdade das mulheres. Não nas montanhas do Iémen, pelo menos.
E o mundo ocupa‑se de tantas coisas mais importantes para os homens. A guerra, a política, o petróleo... todas aquelas imagens em que vi correr mulheres e crianças debaixo das bombas, fugir da fome, da escravatura, da morte.
O meu filho é um refém, a minha irmã e os seus filhos são reféns. Quero que eles saiam do Iémen. Que sejam livres de escolher o lugar do Mundo onde hão‑de fincar pé.
Eu, Zana, tenho o tremendo privilégio de ser a refém libertada, aquela que teve a sorte de se esgueirar por entre as grades da prisão. Mas permanece‑se sempre ex‑refém. A chantagem, a violação, a privação da liberdade marcam um ser humano para sempre. Aqueles que lá ficaram, a minha irmã, o meu filho, vivem em mim como punhais crivados na minha carne. Sofro com o seu sofrimento, a minha liberdade não tem sentido sem a deles.
Pus no Mundo um rapazinho, chama‑se Marcus e não Mohammed, nasceu do meu ventre, do meu sangue, da minha dor. É fruto de uma violação que durou oito anos, mas é meu. Tenho de ter o direito de o fazer partilhar da minha cultura, para que ele mesmo tenha o direito, mais tarde, de escolher a sua.
A minha cólera não se extinguiu, recuso‑me a ser o vulcão que morre sob a lava, só tenho uma vida para lutar. Uma mãe a quem é retirado o direito de educar o seu filho é uma mulher ferida até à morte.
Muitas vezes, no silêncio das minhas noites solitárias, oiço o meu coração gritar como gritam as lobas lá longe, nas montanhas, à procura das suas crias. Gritarei até que ele me oiça.
àquela que acaba de ler a minha história e que está para fechar este livro, digo: "Não o feches no esquecimento. Ajuda‑me. Deixa ressoar na tua memória este grito que é o meu e o de tantas outras mulheres." De todas aquelas que a Justiça esquece e achincalha, lá onde as leis são feitas por homens que as dominam, que as consideram como menos do que animais, que lhes roubam corpo, alma e filhos.
Exijo o direito à ingerência nesses países. Não quero que casem o meu pequeno Marcus aos treze anos, à força. Não quero que lhe comprem uma mulher como a uma mercadoria, com um passaporte como acessório indispensável. Marcus fará seis anos este ano. Nadia, vinte seis.
Nadia, a minha irmã, é uma pequena lágrima isolada, solitária, neste imenso vale de lágrimas. Continua a cintilar para mim. Esta narrativa é‑lhe dedicada, a ela e ao meu filho. Jamais hei‑de ceder, Nadia. Prometi‑to.
Hás‑de ser meu filho, Marcus, jurei‑o.
Um ano depois da publicação da tradução francesa do seu livro e no seguimento dos acontecimentos que dele resultaram, Zana Muhsen decidiu acrescentar um capítulo a Vendidas. Neste, relata o seu combate em favor de Nadia.
AS LáGRIMAS VÃO‑SE E VOLTAM
Depois de ter escrito a minha história, depois de o meu livro se ter tornado um objecto tangível, de milhares de leitores o terem tido nas mãos, tive de aprender a viver com ele. Quando digo aos jornalistas, ingleses ou franceses, que sou incapaz de o reler, eles ficam com um ar de surpresa. Como se fosse possível reler um pesadelo...
Sim, as lágrimas vão‑se e voltam de cada vez que tenho de enfrentar o assunto. Lágrimas invisíveis aos outros, sufocantes para mim. Traduzo‑as apenas num curto silêncio, o tempo de uma respiração, de desfazer o nó na minha garganta.
No dia 5 de Fevereiro de 1992, em Paris, na sala de espera do programa "Sacrée Soirée", de Jean‑Pierre Foucault, tive a estranha sensação de me estar a desdobrar. Havia uma Zana personagem da sua própria história, maquilhada para a televisão francesa, pronta para enfrentar as perguntas, pronta para lhes responder, pronta a tudo para cumprir a sua missão, e uma Zana quase petrificada, hirta no seu desejo de falar de Nadia, da qual não tinha notícias desde o seu regresso a Inglaterra, quatro anos antes.
E havia também uma Zana trémula, de mãos suadas, tendo diante dos olhos as recordações da aldeia de Ashube, no Iémen, a Zana escrava, humilhada, violada, a cabeça cheia de ódio e sofrimento, privada do seu filho, privada da sua irmã, a sua dupla, a sua imagem, a sua igual, prisioneira lá ao longe.
Sei que Nadia teve um quarto filho depois de eu partir, as notícias circulam de boca em boca na comunidade iemenita de Birmingham. Gowad, o seu "sogro", esse vive em Inglaterra! Mas nada mais sei.
A presença de Betty Mahmoody no estúdio, a meu lado, é para mim um grande conforto. Esta mãe americana, sólida, tão calma, tão determinada, conseguiu aquilo que eu e Nadia tanto esperávamos: fugir. Mas a fuga, a evasão de uma aldeia do Iémen, sem socorros, sem ajuda, sem comunicação possível com uma representação diplomática é totalmente impossível.
Oiço Jean‑Pierre Foucault, o moderador do programa, declarar que a minha vida, desde o meu regresso à Europa, é toda ela uma obcessão. Eu própria nada mais sou que uma obcessão.
A primeira prova desta emissão é a entrevista ao meu pai. Uns vinte segundos, durante os quais ele profere mais uma mentira:
‑ Sempre o disse: nenhum árabe, nenhum muçulmano alguma vez vendeu uma filha sua.
Respondo como que mergulhada em nevoeiro, tensa ao máximo por conter, ao mesmo tempo, o ódio e as lágrimas. Sei fazê‑lo, fi‑lo tantas vezes lá longe... Agora, quando tenho de falar nesta violação, sou um bloco de pedra que proibe a si mesmo qualquer emoção em público.
Mesmo com os olhos rasos de lágrimas, sou capaz de não deixar que a voz me trema ao explicar:
‑ O rapaz violou‑me, o pai dele disse que se eu recusasse me atava à cama. Comprou‑me.
Sepultei esta violação na memória, a ponto de conseguir exumá‑la sem medo. Não fui eu que eles violaram, foi um corpo sem alma. O público no estúdio está em silêncio. Na Europa, a violação é um crime. Lá longe, é quase um costume.
Todas estas mentiras acumuladas. E a minha mãe que chora atrás dos seus óculos escuros, sentada entre o público, impotente.
Mentiras, choros, tudo recomeça eternamente. Que dizer que convença, que sobreleve uma montanha de mentiras como aquela?
Jean‑Pierre Foucault anuncia‑me a chegada ao estúdio de um representante da embaixada iemenita em Paris. Parece convencido de que uma conversa com o diplomata pode ajudar‑nos. Quero muito falar com ele, claro; estou pronta para tudo, por Nadia, por Marcus, pelas crianças. Mas sei de antemão que é uma perda de tempo.
O representante parece‑se com o meu carrasco, Abdul Khada, é um homem iemenita, cheio de si e da sua honra de macho, convencido de antemão de que as mulheres não têm direito à palavra. Mais um diplomata! Vou tornar a ouvir a ladainha: "Nadia é uma cidadã iemenita, Nadia é livre"...
Livre! Nem tempo teve de crescer. Permaneceu a garotinha de catorze anos, sem defesa, sobrecarregada agora com quatro filhos, submetida a um marido e a uma família.
Não devo deixar transparecer o ódio que trago dentro de mim. O combate tem as suas necessidades diplomáticas.
Já não sou esse gado feminino de quem eles dispunham a seu belo‑prazer. Sou inglesa, livre; este homem não é superior a mim em nada. Representa o seu país, é ele o culpado, não eu.
Esta culpabilidade que senti ao tornar a pôr o pé no solo da Inglaterra, sozinha, sem o meu filho, sem a minha irmã e os seus filhos, éo meu problema íntimo. Não tive outra escolha senão fugir para melhor lutar.
Sou, portanto, culpada de ser mais forte, mais ardente, mais teimosa do que a minha irmã. Culpada de querer bater‑me contra estes homens, contra um país inteiro, se necessário, para a arrancar de lá.
A imprensa, as emissões de televisão, tudo isto é um sofrimento, mas são indispensáveis. Assim, homens e mulheres são postos ao corrente, ficam a saber o que se passa nesse magnífico país onde a minha irmã, tenho a certeza absoluta, está a morrer lentamente, encerrada numa aldeia medieval. Nada mais revejo dela, nas minhas recordações, do que esse rosto fino e lasso, queimado do sol, os seus grandes olhos desesperados quando eu parti deixando‑lhe Marcus nos braços. O seu primeiro filho, Haney, agarrado às suas saias.
Nesse dia, eu prometi‑lhe:
‑ Nunca te abandonarei.
Agora, oiço a diplomacia a falar. Oiço dizer que "esta situação é inaceitável", que o governo iemenita se ocupou de nós, que nos colocou sob a protecção do governador de Taez, durante algum tempo afastadas dessa família de carcereiros... Está bem, e depois?
Tive de partir deixando o meu filho e eles tornaram a levar Nadia para a sua aldeia‑prisão. Quatro anos depois, ainda não passámos daí.
Segunda provação. Parece que posso falar com Nadia ao telefone. Magia da televisão, pois já tentei sozinha fazê‑lo muitas vezes, tem de se passar por Taez, pedir uma linha para a aldeia e no fim a linha está cortada! Há quatro anos que essa linha está cortada, pelo menos para mim. Prometera a mim própria que não chorava, que maçada. E é horrível porque não oiço nada. Uma voz fraca, incompreensível, ressoa sobre o estúdio. Uma palavra em iemenita? Nadia pode falar inglês, sabe muito bem falar inglês. O próprio diplomata o confirma, esteve em linha antes de mim, ao que parece...
Imagino a minha irmãzinha num escritório oficial, rodeada de homens. Como é que podem estar à espera que ela me fale livremente? Até nos bastidores. Jean‑Pierre Foucault pede, de facto, que se mantenham em linha para eu poder continuar esta discussão fora da emissão. Enquanto espera, pergunta à diplomacia se podemos ir de avião ao Iémen, para vermos Nadia, em completa segurança.
A diplomacia diz que sim. A diplomacia fará seja o que for, parece‑me, para evitar aquilo a que este homem chama "o matraquear mediático". O que não impede que se este matraquear não tivesse sido feito esta noite diante de milhões de telespectadores franceses eu não teria tido a menor oportunidade de ver a minha irmã "em completa segurança", como eles dizem.
Enervo‑me perante esta contestação permanente da minha revolta. O diplomata declara que "o problema do meu pai" é dramático, que ele nada tem a ver com a sociedade iemenita. Um assunto de família para ele, não um caso iemenita.
Quanto a mim, nada tenho contra o Iémen. Só sinto ódio por aquele que nos vendeu e por aqueles que nos compraram. Simplesmente, o que acontece é que eles são iemenitas.
‑ O senhor fá‑lo‑ia? Venderia uma filha sua? Criada na Europa até aos quinze anos, de cultura inglesa, ou francesa, vendê‑la‑ia lá?
Não pude impedir‑me de agredir a diplomacia. O meu pai não foi o único a vender as filhas. Ouvi falar de inglesas prisioneiras noutras aldeias. Então?
Foi o fim. Betty Mahmoody, com a sua formidável calma, encerrou a emissão, dizendo o que era preciso. Agradece ao governo iemenita o ter aceitado esta viagem, o permitir‑me rever a minha irmã e os seus filhos, e também o meu, Marcus.
Acrescenta, apesar de tudo, que sem os órgãos de comunicação social ninguém alguma vez conseguiria este género de facilidades.
Corro para o telefone, nos bastidores. Betty Mahmoody está junto de mim, atenta. Ela bem sabe o que representa um contacto pelo telefone, tão difícil e tão precioso, com a família. Infelizmente, não oiço quase nada. Crepitações, uma vozinha interrompida pela estática, "alôs" que se perdem em galáxias longínquas. Creio perceber que Nadia está em casa do governador de Taez, ou num serviço oficial qualquer. Oiço uma voz de homem lá atrás, por um instante. Depois, mais nada.
Eu chorava de raiva. Tudo aquilo para nada. Mas do que é que estava à espera? Que a deixassem falar à vontade? Que lhe oferecessem um radiotelefone, como aos jornalistas durante a guerra do Golfo? Para eles, a minha irmãzinha não passa de uma aldeã iemenita cuja família inglesa faz barulho a mais para o seu gosto.
Mas vou vê‑la. Eles nada podem contra uma emissão da televisão francesa. O diplomata prometeu, já não pode voltar atrás.
No avião, não cesso de repetir para comigo o que lhe vou dizer. O mais importante é jurar‑lhe que não deixaremos de lutar até ela voltar a Inglaterra com os filhos. A equipa de televisão, todos os que me acompanham nesta viagem desconhecem o que se vai passar; eu não. Julgam que nos vão deixar a sós, à minha irmã e a mim, que ambas poderemos conversar onde quisermos e pelo tempo que quisermos. Julgam que iremos até à aldeia rever uma família, que eu vou estender os braços ao meu filho. Quanto a mim, sei que nada será como eu gostaria que fosse.
Já devem ter preparado Nadia; pregando‑lhe sermões, talvez ameaçando‑a. Contandolhe que me tornei uma mulher perigosa que só quer escândalo e envergonha o Iémen. Não nos deixarão sozinhas um segundo que seja. Ela terá medo, como ambas o tivemos tantas vezes. medo porque tem de voltar para junto do pai dos seus filhos. De viver no meio deles. Medo porque nada se faz por magia e eu não poderei dizer‑lhe:
‑ Vem, corramos a refugiar‑nos no meio daqueles franceses todos, subamos para o avião!
Há as crianças. Há a lei iemenita, que não autoriza uma mulher a viajar sem a autorização do marido.
Ao menos, vou ver a minha irmã. Ao menos teremos uma nova esperança ao juntar‑nos, mesmo que seja muito pequenina. Se não puder continuar a esperar, não poderei continuar a viver. Tem de se tentar.
Chegamos a Sanaa a 9 de Fevereiro de 1992. O avião aterra. Torno a ver os mesmos edifícios onde esperei, morta de medo, o avião do regresso a Inglaterra. Percorre‑me um enorme tremor.
Desta vez éo tapete vermelho, as autoridades que nos recebem no salão. Com a televisão, Jean‑Pierre Foucault e o meu editor, sinto‑me protegida e ao mesmo tempo doente de angústia; ter necessidade de todo este arsenal humano, desta protecção oficial, só para ter o direito de rever Nadia...
Mais uma meia hora de voo para Taez. Há aldeias lá em baixo, montanhas. Oiço dizer que é lindo. Vista do céu, a prisão de Nadia é linda.
A minha mãe não diz nada; eu nada digo. às vezes, pergunto‑me como é que ela vive este inferno, há tanto tempo. Quis‑lhe mal, quando regressei. Queria mal à Terra inteira. Irá Nadia fazer como eu?
Nadia, a minha obcessão.
Num jardim público de Taez, a mamã e eu esperamos o seu aparecimento. Há muita gente, demasiada gente, guardas armados não longe dali. A câmara e as pessoas da televisão. Que lhe terão dito? Como irá reagir a estas redescobertas, tão estranhas para ela? Entre a monotonia laboriosa e fechada da aldeia, as corveias quotidianas e a solidão, em que se terá ela tornado?
Vejo chegar uma silhueta negra. Velada. Um homem a seu lado. É Samir, o marido. Este traz uma criança pequena nos braços, o seu quarto filho.
Ela avança, as mãos erguidas, como se tivesse medo. Olhamo‑nos. Sinto‑me nua, com o meu rosto a descoberto. Da minha irmã só vejo os olhos imensos e negros. Adivinho‑lhe as rugas debaixo do véu, o medo e nada mais.
Olhamo‑nos pelo que parece uma eternidade, um choque de eternidade, depois ela dirige‑se para a nossa mãe e eu oiço:
‑ Aculpaétua!
De que está a falar? De agora? De toda aquela gente que a amedronta? Ou de antes? De toda a história?
Pergunta‑me o que se passa. A câmara mete‑lhe medo, nunca viu nenhuma.
Também a mim ela faz medo de repente. Reencontrar Nadia desta maneira é ainda mais difícil do que tinha pensado esta noite, às voltas no meu quarto do hotel. Mas não havia outro meio. Tenho de lhe explicar, em tão pouco tempo, tudo aquilo por que tenho passado desde há quatro anos, porque e como estou ali. É quase impossível.
Não trouxeram Marcus. Tinham‑mo prometido e ele não está ali. Há anos que Nadia não vê o meu filho. Tiraram‑lho. Também hoje lhe ficaram com os filhos lá em cima, na aldeia, para terem a certeza de que ela não seria tentada a fugir. Imediatamente nos fazem saber que se quisermos ir a Ashube ninguém nos poderá garantir a segurança.
É o sistema. Tanto lá fora como cá dentro, passam o tempo a repetir‑me:
‑ Mas podem ir ao Iémen, é um país livre. Turístico.
Mas não aquela aldeia.
Falamos em inglês, para o Samir não se aperceber de tudo, se possível, mas é difícil. Ela está zangada comigo. Eu já o sabia. Sabia‑o de antemão.
‑ Será que me esqueceste?
Aceito o ralho, há coisas mais urgentes.
Explico, o mais depressa que posso, porque é que as coisas são como são: o mundo à nossa volta, o livro, a televisão... Mas dou‑me conta quase logo a seguir que não me compreende lá muito bem. Tem um ar, não sei muito bem, como que ausente, ou drogada, como quem está noutro mundo. Há palavras que não parecem penetrar‑lhe no espírito.
‑ O que foi que te disseram de mim, Nadia?
‑ Que vinhas aí com a televisão, que já lhes trouxeste muitos aborrecimentos. Não percebo para que é a televisão.
Lembras‑te dos jornalistas ingleses? Fizeram uma reportagem em Inglaterra. Desta vez é a televisão francesa.
‑ Não devo falar muito. Não fica bem. O Samir não gosta. Disseram‑lhe que não era preciso eu falar. E a mim disse‑me ele que me levariam os meus filhos.
Apercebo‑me de que ela já não sabe o que é um jornal, nem o que nele se imprime. E ainda menos consegue imaginar o que representa a televisão francesa ou inglesa. Doze anos de embrutecimento privaram‑na de tudo o que ela era: uma rapariguinha inglesa que ouvia música e ia à escola. De Birmingham só lhe resta o sotaque.
‑ Queres regressar a Inglaterra?
‑ Se o Samir quiser. É ele quem decide.
‑ Não queres partir sem ele?
‑ Sem ele, tenho medo. Sem ele não é possível.
‑ Virias com ele e as crianças?
‑ Se o Samir assim o decidir.
Está grávida de três meses. De um quinto filho. Em doze anos, Samir não lhe deu descanso. Sem contracepção possível, com partos de pesadelo, sem hospital, está gasta. O "marido" não a larga. Há muito que não a larga. E, paradoxalmente, sem ele sentir‑se‑ia em perigo. Que poderia ela fazer, com cinco filhos e sem marido? Divorciar‑se? Ele ficaria com a guarda das crianças, ela seria privada delas, como eu fiquei privada de Marcus. Não se pode recusar a ter relações sexuais com ele. Se eu agora lhe dissesse "és livre, podes partir com as crianças, viemos buscar‑te", não me acreditaria.
‑ Tu estás doente, Nadia?
‑ Não, não... Cansada, mais nada. Estou sempre cansada.
Samir intervém:
‑ Ela vai muito bem.
Ela não tem consciência do seu desgaste físico. Só fala de cansaço, mas nem há necessidade de falar dos seus sofrimentos, eu vejo‑os. Encho‑me de raiva. É quase impossível falar a sós. O "marido" está ali, sempre ali, não nos larga os calcanhares, o pequenino nos braços como uma ameaça.
É isto que não compreendem os outros, os jornalistas, a gente da televisão. Dizem "vamos deixar‑vos falar uma com a outra". Mas ele está ali, o fazedor de reféns. E ainda não é de todo responsável, pois está totalmente sob o domínio do pai. Aqui, um filho tem de obedecer sempre ao pai. Vai pedir a sua autorização para ir para Inglaterra com Nadia e os filhos, mas Gowad não lha dará.
Gowad faz o que quer. Vive como quer na Europa, mas o filho e a nora têm de permanecer na sua terra. É tão prático para ele que lhe guardem a casa, a tribo, os filhos que ali deixou! E o seu orgulho? Nunca cederá.
Por sua vez, Jean‑Pierre Foucault tenta uma entrevista. Os grandes olhos negros de Nadia, cercados pelo véu, vão do marido, mantido a um lado, para todas aquelas pessoas que olham para ela, para o tradutor, para a câmara. Que compreenderá realmente daquilo tudo? Meu Deus, que estragos sofreu naqueles doze anos!
Oiço as suas respostas, num inglês tímido, a sua vozinha aterrorizada.:
‑ Regressar a Inglaterra? Não é possível... Demasiadas pessoas, demasiados incómodos... Sou muçulmana, aprendi a lei muçulmana.
‑ É feliz? ‑ pergunta‑lhe Jean‑Pierre Foucault.
‑ Muito feliz. Tenho uma casa grande... o que comer... com que me vestir... Tenho tudo, não me falta nada.
‑ Recorda‑se de Birmingham?
‑ Recordo‑me de certas coisas, não muito bem. Eu era uma criança, ia à escola... Eu era uma criança...
‑ Porque é que a senhora e Zana não se beijaram?
‑ O choque, fiquei muito comovida.
Não se dão beijos assim com essa facilidade depois de uma separação como a nossa. É preciso que se saiba que a angústia, o medo, a solidão, a transformação por que ela passou na minha ausência representaram uma espécie de lavagem ao cérebro. Quem não viveu naquela aldeia, no meio daquela gente, nas condições que conheço, é incapaz de imaginar por um só segundo que seja aquilo em que nos podemos tornar se a raiva, o ódio, a força não nos sustentarem. E Nadia é um ser terno, maleável, fraco. Eles quebraram‑na.
Está nisto, creio, a minha maior fonte de ódio.
Este encontro tem qualquer coisa de irreal. A minha irmã ainda não tirou o véu, nem o fará. Há demasiados homens por perto. Aliás, prefiro assim. Tenho demasiado medo de voltar a ver esse rosto, esses traços repuxados, essa pele que adivinho arruinada, queimada pelo sol.
Volto para junto dela, longe das câmaras. Murmuro:
- Queres voltar para Inglaterra, Nadia?
O marido está demasiado perto. Ela hesita, depois inclina‑se, virando ligeiramente a cabeça. Oiço, debaixo do véu, cochichar a resposta:
‑ Quero voltar para casa.
Ele não percebeu. Não ouviu. É assim que eu recolho outras confidências, aos poucos, em curtas frases murmuradas, a cabeça inclinada na minha direcção, durante dois ou três segundos roubados à vigilância do marido, que repete sem cessar:
‑ Não os oiças. Não os oiças. Despacha‑te.
Mesmo assim, ela deixa escapar.
‑ Tenho medo.
Depois:
‑ O governo diz que me vão tirar as crianças.
E entretanto:
‑ Como vão os companheiros da escola?
‑ Cresceram, ainda estão em Birmingham, vejo‑os de tempos a tempos. Pedem‑me notícias tuas, querem saber se vais voltar para a nossa casa.
Não evidencia nenhuma emoção particular a esta recordação da infância. Adivinho a demasiada confusão que lhe vai no espírito. Tenho demasiadas coisas a dizer e nenhum tempo; ela não tem nada a dizer, tem medo.
A impressão de estar no cais de estação, antes da partida do comboio, e de não ter tempo para falar de coisas essenciais, que no entanto ruminámos durante longo tempo.
Começa a chover sobre ojardim e levam‑nos para uma casa. Uma sala pequena, cadeiras. Ali, ficámos a sós com Nadia, a minha mãe e eu, mas Samir não está longe. A sala faz eco:
é impossível sussurrar seja o que for.
A mamã pega na conversa, é a sua vez de falar com a filha e é duro para ela, eu sei‑o. Há anos que carrega com a sua própria culpa. É frequente as pessoas não compreenderem como foi que pôde deixar partir as filhas sem desconfiar da cilada, como foi que pôde perder‑lhes o rasto, como pôde ignorar os maus tratos que recebíamos. A verdade é que as pessoas nada sabem do esquema de intoxicação de que ela foi vitima.
Nós éramos o que se pode chamar felizes lá longe, já não queríamos regressar. A nossa escolha estava feita! Tínhamo‑nos tomado mulheres iemenitas livremente. A nossa mãe inglesa não tinha nada que pôr os pés no país do nosso pai. Sozinha, correria ali um grande perigo.
O que mais preocupa a mamã neste momento é o estado de saúde de Nadia, esta nova gravidez. Falam das crianças. Os filhos, neste país, são a garantia da imobilidade de uma mãe. Terna e cruel prisão, com a qual os homens contam e são bem‑sucedidos.
Samir aproxima‑se mais:
‑ Agora temos de ir, por causa das crianças.
Entramos no jipe. Samir e Nadia, calada e obediente, acompanham‑nos ao hotel. Ela inclina‑se para mim, beija‑me sem levantar o véu, um gesto quase automático que me comove, e só diz, com os olhos marejados de lágrimas:
‑ Até depois.
‑ Não te abandonarei.
Nova promessa, que ela recebe alheada. Já está longe, tão longe, arrancada à minha presença, reapossada.
Esta terrível sensação de ma estarem a roubar!
Acabou‑se. Foi‑se embora, voltou para a aldeia.
Para acabar o dia, damos uma volta por Taez com a equipa de filmagens. Aquilo não mudou. Foram destruidos edifícios durante a guerra do Golfo e a impressão de pobreza parece‑me mais forte do que dantes. Regressamos ao cair do dia a Sanaa, para pernoitarmos no hotel.
Só tenho um desejo, ir‑me embora daqui para fora. A dado momento, tive medo de me afundar, de ceder. Diante de Nadia, poderia ter dito: "Fico." Sabendo muito bem que isso não serviria para nada. Agora sinto‑me culpada por partir e no entanto assim é preciso. Ficar não faria as coisas andar. Não poderia tornar a viver na aldeia e não poderia viver na cidade com plena segurança. Nunca mais ma deixariam ver. Fora da presença da equipa europeia, do olho oficial de uma câmara, voltaria a ser a sua alma negra. A que impede a escravidão.
Se ficasse, na magra esperança de a ver de tempos a tempos, a minha mãe morreria por causa disso. E o meu combate não estaria terminado... Não penso apenas em Nadia, penso também em todas as outras crianças que ali tornaram prisioneiras e que desejam desesperadamente regressar a sua casa.
Este país aterroriza‑me. Mesmo com toda a equipa francesa, ao regressar ao avião não consigo impedir‑me de me voltar para trás a todo o momento. Tenho medo de que alguém me deite a mão para me fazer voltar à aldeia.
E isto ainda não acabou. Eu e a mamã ainda temos de passar pela provação de outro programa de televisão. De voltarmos a encarar esse diplomata que declara ter feito tudo o que podia por nós. No Iémen, encontrámo‑nos com tudo o que de "feminino" nos podiam mostrar em matéria de governo. Uma ministra até me prometeu ajuda. Se quiser telefonar à Nadia, ou escrever‑lhe, só tenho de lhe pedir.
Obrigada, Senhora Ministra. Fá‑lo‑ei, mas temo o que se seguirá. Já ouvi tantas promessas! Do governador, dos diplomatas. E conselhos também. "Não faça tanto barulho na comunicação social"... "Se a sua irmã não quer partir para Inglaterra, está no seu direito, é livre"... "A senhora é livre de voltar ao Iémen"...
Tenho vontade de gritar. Livre, a Nadia? De pedir autorização ao marido, que vai pedi‑la ao pai, que vai recusá‑la? Porque é assim mesmo: é este o chefe.
Nadia aparece nos ecrãs de televisão alguns dias mais tarde, grandes olhos negros, grande véu negro, oferecida, misteriosa, aos telespectadores franceses.
No estúdio, eu assumo, eu respondo; reúno todas as minhas forças, toda a minha calma, para não gritar ao dizer a este diplomata:
‑ O senhor mentiu‑me. Não estivemos a sós. As crianças ficaram na aldeia e eu não pude ver o meu filho.
Ele tem o atrevimento de me dizer que a culpa foi minha. No entanto, Jean‑Pierre Foucault frisou‑lhe que a nossa segurança durante o caminho para lá não podia ser garantida...
Terei de aceitar reviver de novo este pesadelo? Porque não nos levaram eles as crianças? Todas elas?
Está claro que Abdul Khada não quis largar Marcus. Alegam que as crianças tinham de ir à escola. No Iémen, a escola começa aos sete anos! A diplomacia acaba por se refugiar no argumento de que era demasiado complicado fazer deslocar as crianças, e sem utilidade por aí além. Mentiras.
Nadia é feliz e livre na aldeia. Mentiras.
Oiço o diplomata dizer com a maior tranquilidade que ela talvez tenha conhecido a violência e a coacção, mas que hoje gosta daquela vida! E, com um sorrizinho de superioridade, que Nadia não é o Sakharov do Iémen...
Para mim, é. É uma prisioneira, um refém, sem mais identidade própria que um animal doméstico.
Vi‑o nos seus olhos, a cólera é demasiada. Aquele olhar não é um olhar de liberdade. E eu sei o que ela me disse e que tem demasiado medo de falar diante dos homens.
Esse medo, eu vivi‑o e conheci‑o. Eles não.
Em Birmingham, reencontro um pouco de calma. O meu filho Liam ajuda‑me a entrar outra vez nos eixos. Dedico‑me a ele e o seu amor apazigua‑me.
A minha mãe é que começa a agitar‑se. Quer ir ao Iémen, tentar o impossível. O nosso editor ajuda‑a, ocupando‑se das formalidades e, uma vez que o diplomata demonstrou tanta amabilidade, nada terá a temer ali, mas vai partir com uma amiga inglesa, por precaução. É melhor serem duas em Taez, quando se é uma mulher estrangeira.
A mamã teme aquele quinto parto de Nadia. Quer lá estar, obrigar Samir a deixar que a Nadia vá dar à luz em Taez, onde há hospital.
Entretanto, tentei telefonar. Lá, há uma cabina telefónica na rua em que Nadia mora, a cinco minutos da sua casa. Para os Europeus, tudo parece simples. Mas ela não pode ir telefonar sozinha, a aldeia denunciá‑la‑ia imediatamente à família. Se conseguíssemos ligar de Birmingham, ela só poderia atender se fosse acompanhada por um homem.
Aliás, dou comigo a ouvir o serviço de Taez garantir‑me:
‑ A linha está avariada.
Lá, é a Lua. A minha irmã vive na Lua, é uma extraterrestre, está perdida na quarta dimensão!
Também escrevo à Senhora Ministra que prometeu ajudar‑nos. Não receberei qualquer resposta. Pior, ouvirei afirmar, aquando de uma terceira emissão em França, no mesmo estúdio, pelo mesmo diplomata, que não escrevi! Ou que a minha carta não chegou. Que é tudo por minha culpa, que me obstino para com e contra a livre vontade da minha irmã.
Não passo, segundo ele, de uma mentirosa, de uma "chorona de televisão".
Portanto, apenas lhe peço uma coisinha de nada: que ela venha passar férias a Inglaterra, com o marido e os filhos. Se o conseguirmos e se depois ela quiser regressar ao Iémen, então eu aceitarei a sua decisão. Mas enquanto lhe continuarem a recusar esta simples estada na liberdade eu nada aceitarei e não cederei. Não acredito neles, só nela. Só acredito na minha força para lutar.
No dia 1 de Agosto de 1992, acompanhada pela sua amiga Jane, a mamã apanha o avião para Paris. Depois, para Sanaa. Jane é muito inglesa: arruivada, a tez pálida, o olhar franco; com ela, não ousarão correr o risco de complicações diplomáticas. Jane parece‑se com Betty Mahmoody. Calma e doce, e obstinada. Hájá algum tempo, fundou com a mamã uma pequena associação de benemerência para ajudar e aconselhar mulheres na mesma situação que Nadia.
Mantenho‑me voluntariamente à parte desta viagem. Durará várias semanas, o meu filho Liam precisa de mim, tenho medo de complicar as coisas e a mamã reclama a sua parte do combate.
A pobre vai passar por uma prova de paciência e de frustração, mas devemos aproveitar todas as oportunidades de reatar o contacto.
Na noite da sua chegada, tenho direito a uma rápida chamada telefónica. Não mais de cinco minutos. Sabemos que nos arriscamos a ser misteriosamente cortadas...
Chama do seu hotel em Taez, lá já toda a gente está ao corrente da sua chegada, amanhã vai tentar arranjar um táxi que a leve à aldeia.
Dois dias depois, a mesma chamada telefónica rápida, a voz da minha mãe, angustiada e precipitada.
‑ Queria ir à aldeia no jipe, e foi o bom e o bonito. Assim que disse aonde queria ir, fomos cercadas por homens, eram para aí uns cinquenta, que nos insultaram e gritaram coisas. Ficámos cheias de medo, voltámos logo para o hotel, eles batiam com os punhos no táxi. Vou encontrar‑me com uma pessoa da embaixada, em Sanaa. Talvez me possa ajudar. O governador diz que o melhor é não irmos à aldeia, que não podem "garantir a nossa segurança".
Como de costume, o eterno problema. Se quiserem, vão, mas por vossa conta e risco, sozinhas pelas montanhas, e desde que haja um motorista que queira mesmo levar‑vos lá...
Os dias passam, vou sabendo as coisas à medida que elas se passam, como um folhetim, que um conselheiro da embaixada britânica recebeu a mamã em Sanaa e lhe prometeu interceder junto do governador. Que lhe disse para não tentarem ir à aldeia por seus próprios meios, é demasiado perigoso, podem pura e simplesmente disparar sobre elas.
É a guerra. Ela até tem de evitar passear sozinha pelas ruas de Taez. O caso já fez demasiado barulho no Iémen em 1987, quando a sua foto surgiu nos jornais, tal como a minha e a de Nadia.
O telefone toca outra vez e tenho finalmente notícias positivas. A mamã esteve com a Nadia. Dez minutos. Dez minutinhos para uma viagem daquelas!
‑ Trouxeram‑na da aldeia com a filha Tina ‑ diz‑me a mamã. ‑ Abraçou‑me, estava
a chorar. Está esgotada, vai dar à luz em breve. Impossível ficarmos a sós. Estava lá o Samir, o irmão, creio, e um outro homem. Mais sete guardas. O outro homem não cessava de lhe
falar em iemenita. A situação era tão esquisita, com todos aqueles homens à nossa volta, que
nem conseguia falar‑lhe tranquilamente, e então levei‑a para o quarto. Mantive a calma, até apertei a mão ao Sanir.
"Ela tirou o véu, a pele está fina, cheia de rugazinhas, tem todos os dentes cariados, os olhos cehios de rugas. Fez‑me dó. Tenho medo por ela, Zana...
"Por fim, lá nos deixaram sozinhas durante uns minutos, no quarto, com um guarda armado atrás da porta! Tive tempo para lhe mostrar algumas fotos nossas, ela disse que bem queria vir mas que não é culpa sua, que é o Samir que não quer. Chorou, depois riu com as fotos que lhe trouxe de Inglaterra.
"Passou‑se tudo tão depressa! Nem tempo tive de lhe falar como deve ser, de lhe contar tudo a nOSSO respeito, nem de lhe dizer o que estamos a fazer por ela. O Samir entrou passados dez minutos, apenas, e ordenou‑lhe em árabe: "yallah" (depressa!).
"A Nadia tornou a pôr precipitadamente o véu e disse‑me: "Tenho de ir, o carro está à espera."
"Tentei convencer o Samir: "Deixa‑a uns tempos em Taez, dar à luz aqui, bem vês como ela está doente..."
"Respondeu‑me: "Ela não precisa de cá ficar para dar à luz, não está doente, não tem precisão de ti, nem de médico, do que ela precisa é de uma esteira lá em casa.
"A Nadia pediu para ficar um pouco mais no hotel connosco, estava fatigada, o Samir não quis. Estava muito agressivo, não insisti."
A ligação está tão má que por vezes perco a voz da minha mãe. Oiço crepitares, vozes sobrepostas. Imagino‑a no seu quarto de hotel em Taez, rodeada por todos aqueles homens, mendigando dez minutos de encontro com a sua própria filha! É insensato. Nada mudou.
É a isto que eles chamam, em linguagem diplomática, "a liberdade". à rédea curta, cercada de homens, guardada por uma espingarda, para uma entrevista de dez minutos num hotel de Taez! Liberdade.
E não me digam que a minha irmã não é refém deles.
Que temem eles da minha mãe? Um metro e cinquenta e cinco e cinquenta quilos: que a arraste pela força?
E Marcus, o meu filho? Sem nenhumas notícias, absolutamente nenhumas, é como se não existisse já, como se eu nunca o tivesse tido. às vezes, pergunto a mim própria se ele ainda vive.
Depois desta visita arrancada a ferros por intercessão do conselheiro da embaixada britânica junto do governador, a mamã e Jane já não ousam sair, excepto para as necessidades da vida quotidiana. Passam a maior parte do tempo metidas no quarto do hotel. Estão em contacto telefónico com o conselheiro em Sanaa, que é um homem formidável. Continua a ser com ele que elas contam para organizar um novo encontro, um a sério Quando?
Entretanto, Nadia vai dar à luz na aldeia.
A mamã diz‑me que às vezes tem a impressão de ser seguida. Paranóia, sensação de insegurança ‑ o que eu compreenderia perfeitamente ‑ ou realidade?
Correm boatos. A minha irmã Ashia encontrou o meu pai, que lhe contou, com um ar cheio de suficiência, muito contente consigo mesmo, que o Samir teria recebido do governo uma enorme quantia, que já nem precisava de trabalhar, que não tem qualquer desejo, claro está, de contrariar os seus benfeitores vindo passar algum tempo em Inglaterra.
Nova emissão de televisão, nova cólera da diplomacia, que brande a sua boa‑fé e a honra do Iémen como um estandarte...
Terá o meu pai mentido, na esperança de nos desencorajar de uma vez por todas? É possível. Mas é ele quem anda a espalhar esse boato; portanto, a diplomacia que lhe vá pedir satisfações. Não me critiquem, a mim, o ligar a estes boatos, eles são tudo o que eu tenho. Diz‑se que o meu filho está vivo, diz‑se que a minha irmã é livre...
A mamã está em contacto telefónico com o estúdio de televisão. Para o conseguir, teve de passar o dia noutro hotel que não o seu e que a ligassem a um número confidencial.
Qualquer ligação que se peça é imediatamente assinalada, escutada, é preciso empregar artimanhas de siour para se falar sem que a ligação seja cortada, sobretudo se se tratar de órgãos de comunicação social.
Acaba a emissão, acaba o stress que faz de mim um bloco de pedra.
Regresso a Birmingham.
A esperança traz‑me outra vez certas noites de insónia, em que eu penso nas noites passadas lá longe, na prisão, entre o céu e a montanha.
O cúmulo é que o meu irmão e a minha irmã mais velhos, os que o meu pai levou para o Iémen há vinte anos, deixaram esse país sem a menor hesitação assim que puderam. Vivem outra vez em Birmingham. A minha irmã veio com o marido, o meu irmão é solteiro. Estes são livres.
Sempre que dou voltas ao problema dentro da minha cabeça, acabo sempre por cair em Gowad. Foi ele o "comprador" de Nadia, como Abdul Khada foi o meu. É ele quem recusa, quem manipula toda a gente, é ele a chave.
As autoridades iemenitas reconheceram a ilegalidade dos casamentos, reconheceram (apesar de tudo) as nossas nacionalidades britânicas. Portanto, a nossa liberdade de deixar o Iémen. No papel... Cinco filhos e um marido que se recusa a deixar‑nos viajar, nem que seja por uma semana, não é a liberdade vulgar de um súbdito britânico. Mesmo no papel.
As semanas passam num deserto de informações. Nenhuma notícia de Nadia, a mamã palmilha o seu quarto de hotel de um lado para o outro e só sai para ir ao mercado com a sua amiga Jane. Também começa a sentir‑se prisioneira, os seus nervos estão submetidos a uma rude prova e chora muitas vezes ao telefone.
As lágrimas tornam e vão‑se. Nova esperança. Nadiajá deu à luz, segundo Samir tem de esperar quarenta dias para poder ir a Taez. O conselheiro da embaixada teve uma discussão com ele.
Pergunta: ‑ Porque é que não quer ir a Inglaterra?
Resposta: ‑ Se lá vou, metem‑me na prisão!
É estúpido. A mamã explicou‑lhe que a Inglaterra é um país de liberdade, que pode cá vir passar férias, que o próprio pai dele, Gowad, vive cá e que nem por isso está preso! Aliás, nem o nosso!
Resposta subsidiária:
‑ Eu bem gostava, mas a Nadia não vai querer!
Como ninguém acredita nele, dá por fim a sua última razão, talvez a verdadeira:
‑ O meu pai e a minha mãe proibiram‑me de ir. Tenho de dar ouvidos ao meu pai.
A mamã esperou os quarenta dias, depois tornou a ir falar com o governador, na presença de Samir.
O governador garantiu‑lhe que ia fazer tudo o que estivesse nas suas mãos para remediar esta história. Quantas vezes ouvi eu repetir isto?
A mamã mantém um diário onde anota tudo, que me lê em todos os nossos telefonemas. Em casa do governador de Taez, portanto, Samir está presente no gabinete onde ela é recebida.
O governador: ‑ Qual é o problema, Samir? Porque é que não queres ir a Inglaterra?
‑ Por causa de toda esta propaganda.
A mamã explica‑lhe que já não há propaganda nenhumha, que já acabou tudo e que também já não se fala de nós em Inglaterra.
Então, Samir declara:
‑ Para o ano, eu vou.
A mamã responde:
‑ Há cinco anos que diz isso. A Zana pode oferecer‑vos os bilhetes de ida‑e‑volta, encarregar‑se de todas as despesas com a permanência. Vocês não terão de se preocupar com coisa nenhuma, a embaixada tem um visto à disposição do Samir...
Já nem a ouvem. O governador já fez o que tinha a fazer, já falou a Samir, Samir já respondeu. O incidente é caso encerrado.
Mas, graças à intervenção da nossa embaixada, a mamã vai poder reencontrar‑se com Nadia no gabinete do governador.
Desta vez, um pouco mais de dez minutos: fizeram-lhe o favor de uma meia hora de conversa com a filha, depois de lhe terem prometido o dobro.
Uma data histórica para nós, o 7 de Novembro de 1992, um sábado. Era meio‑dia e meia, hora de Taez.
Levaram a nossa mãe para uma espécie de salão, junto do gabinete do governador. Uma divisão nua, onde cadeiras vazias aguardam ao longo das paredes. A Nadia está a chegar, está ainda no gabinete do governador, com Samir. Devem estar, provavelmente, a relembrar‑lhe o que deve dizer e não dizer.
Depois, Nadia chega, velada, com o seu último bebé nos braços.
Senta‑se numa cadeira ao lado da mamã. Desta vez não há guarda armado atrás da porta, a segurança do gabinete do governador deve parecer‑lhe suficiente. Desta vez, ficam verdadeiramente a sós.
A mamã pede‑lhe que tire o véu. Conta‑lhe a nossa vida em Birmingham e pede‑lhe notícias de Marcus. Continua a não as haver. Nadia fala com uma vozinha fatigada, lassa.
O seu último parto foi difícil, tal como o primeiro. Teria necessitado de uma cesariana, o bebé
era demasiado grande, mas na aldeia não se conhece a palavra "cesariana", só se conhece a navalha da barba.
A mamã quis tirar‑lhe uma fotografia, com o filho. Nadia acedeu, uma só, não mais, como se temesse alguma coisa. Ser punida?
Tenho sob os olhos essa foto, a mamã enviou‑ma logo. É a primeira vez que revejo a minha irmã sem o véu. As lágrimas vêem‑me aos olhos. Mudou tanto! E este quinto bebé nos seus braços, é isto que me faz medo e me faz chorar. Ela não cessa de engravidar. Ele vai matá‑la.
O seu rosto envelheceu, não se parece com aquela que deixei, os seus olhos estão cheios de rugas à volta, o sorriso é cansado, e no entanto é linda, tão linda com aquele olhar perdido.
A mamã pergunta‑me se ela não mastigará qat, como todas as iemenitas. Todos os seus dentes estão arruinados, está tão fraca que caminha curvada, com lentidão.
Haney, o mais velho dos seus filhos, está com oito anos, Tina tem seis. O terceiro é um rapaz, o quarto também, vimo‑lo em Fevereiro, ainda bebé. O último nem sequer sei que nome tem; quando a mamã o viu, ainda não o tinha; é Samir quem escolhe os nomes das crianças, não Nadia.
Se ela engravidar outra vez este ano, não aguentará o choque. Quanto à sua vida lá, eu conheço-a. Tratar das crianças, trabalhar nos campos, recomeçar todos os dias a mesma tarefa. Não há ali nada mais que se faça senão trabalhar.
Nem sequer percebe que é uma escrava. Tinha catorze anos quando lá chegou, está lá há treze; hoje, já nada sabe de uma vida normal. Passava‑se o mesmo comigo, só me dei conta disso quando cheguei a Inglaterra. Só compreendemos quando olhamos para trás, à distância. Se ela viesse de férias a Inglaterra, teria essa distanciação... reencontraria a sua personalidade. É disto que têm medo. Que poderão eles então dizer contra a vontade de uma mulher livre?
O que eu contemplo nesta foto é um fantasma todo de negro, com uns grandes olhos negros, sobre um fundo de parede branca, um fantasma que ousou desvelar o rosto para a mãe, por alguns segundos, e que imediatamente repôs o véu, com medo que o "senhor" a surpreendese em flagrante delito de liberdade famíliar.
Ainda disse à mamã:
‑ Não sou eu que não quero vir, mamã, é ele.
De cada vez que olho para esta foto, é uma tortura. Ela tem um ar, não sei... drogada... alheada... perdida. Ignoro o momento em que será demasiado tarde para ela...
Nem sequer quero escrever‑lhe, temos de estar com atenção às cartas, àquilo que diremos nelas, admitindo que lhas entreguem, do que duvido. Uma carta pode reacender a crise na aldeia. Por momentos, já não sei como lutar, como derrubar esta parede.
A mamã também não. Depois desta meia hora privilegiada, Nadia tornou a partir por ordem de Samir, as costas curvadas ao peso do seu quinto filho aos vinte e sete anos.
A mamã diz‑me ao telefone que tem de regressar, já não pode esperar mais nada das autoridades locais. Passou lá cinco meses, para dez minutos e depois uma meia hora de entrevista e esta foto roubada, o nosso único tesouro.
Por vezes consigo estabelecer o vazio, não continuar a pensar em Nadia e em tudo o que lhe aconteceu. Tem de ser. Mas logo a seguir tudo recomeça e as lágrimas tornam. Não posso levar uma vida normal, não como gostaria que fosse. Não vivo, sobrevivo. Ainda tenho dificuldade em dormir, o meu bebé Liam ajuda‑me nisso às vezes, tomo‑o nos braços e dormimos juntos, não o largo. É um pouco Marcus que eu tomo nos braços ao mesmo tempo que ele.
Não pude continuar a viver com Mackie, o seu pai. Ficámos amigos. Ele ajudou‑me muito quando regressei, mas tenho medo dos laços demasiado profundos, não consigo investir, levar uma relação amorosa demasiado a sério. Ainda tenho necessidade de conservar uma certa distância.
A minha irmã mais velha é feliz desde o seu regresso a Inglaterra, tem trinta e um anos, tinha vinte e oito quando regressou do Iémen. Vejo‑a de tempos a tempos, mais aos filhos, estes vão à escola em Birmingham, falam inglês. Tenho menos facilidade com o marido dela. Lembra‑me demasiado o meu pai. Fala como ele, coisa que suporto mal, e a minha irmã compreende.
Tenho vontade de adoptar crianças. Ainda não encontrei o homem ideal. Talvez chegue, mas talvez não. Tenho vinte e nove anos e não estou a ficar mais nova. Para mim, adoptar uma criança é como uma missão, penso nisso há tempo. Marcus talvez seja a razão principal. Se adoptasse uma criança, seria um tanto como se trouxesse Marcus de volta a casa. Mesmo que eu saiba muito bem que isso não é verdade.
Tenho de admitir que ele está quase perdido para mim. Para o ver nem que fosse uma só vez, teria de dirigir o pedido a um tribunal iemanita. E como Abdul Khada se recusa a deixar‑mo ver... seria um combate inútil. O boato diz que está vivo, tenho de me contentar com isso. Nadia disse à mamã, em Novembro, que tinha pedido por várias vezes para o ver, mas que também lho recusaram.
O filho é o verdadeiro objecto de chantagem. Não pode decidir nem escolher. Um ser fraco sobre o qual o homem exerce plenamente o seu poder.
A mamã ouviu esta frase terrível quando lá estava, da boca de um homem iemenita:
‑ Os homens fazem "putos" às mulheres, mesmo que elas acabem por morrer disso. Depois, casam‑se outra vez, não há nada de mais normal.
Tremo por Nadia. Eu fugi a essa servidão monstruosa, reconquistei o direito elementar de uma mulher, o de dispor do próprio corpo. Ela não. É por ela que estou mal outra vez, que procuro a esperança, contra tudo e contra todos, contra ventos e marés.
Depois de ter falado com Nadia, fiquei numa espéce de transe. Uma enorme cólera. Fui mesmo desagradável com a minha mãe, ainda hoje me acontece sê‑lo. Viro a minha agressividade contra a família, e sobre ela em particular.
O meu ódio contra essa gente que retém Nadia tornou‑se ainda mais violento depois de lhe ter falado.
Nadia, como o meu ódio, atingiu o ponto‑limite, isto não pode ser pior.
Quando a ouvi perguntar "Esqueceste‑me?", compreendi que ela nunca havia deixado de esperar que fôssemos em seu auxílio.
E eu tive medo de a olhar, de ver o meu próprio pesadelo de frente, nos seus olhos. Medo de lhe tocar, medo de me desfazer em lágrimas, de me lançar por terra a suplicar que finalmente acabe tudo aquilo, que nos deixem viver! Viver!
A mamã descobriu um perito em islamismo, um sábio, o único, ao que parece, capaz de talvez convencer Gowad, o tirano.
A ele, não poderá responder com o desprezo.
É a minha última esperança. Porque nós cedemos em muitas coisas, pedem‑me que desista do meu processo contra o meu pai, tudo bem, se isso vai apaziguar os espíritos. Mas se a acção deste homem sabedor e religioso não obtiver nenhum eco, então... Descobrirei outra coisa. Porque a Nadia não sobreviverá àquela vida. Eu via‑a, sinto‑o. E se ainda for preciso "chorar". como diz a diplomacia, num estúdio de televisão, ou seja onde for, eu choro, podem ter a certeza.
Fomos vendidas e violadas; Nadia continua a sê‑lo.
Já não tenho nada a perder.
Zana Muhsen
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















