



Biblio "SEBO"




Não é apenas desde o 11 de Setembro que Carmen Bin Ladin se manifesta contra o fundamentalismo islâmico. Quando chegou à Arábia Saudita como noiva de Yeslam Bin Laden, o décimo irmão de Osama, tratou de tudo para não ter de ali viver.
No entanto, ao terminar os estudos superiores nos Estados Unidos, o seu marido regressou à pátria. Passou a dirigir os negócios da família. A vida alterou-
-se completamente para Carmen Bin Ladin.
Até ali tinha sido para o marido uma companheira com direitos iguais, mas com o regresso à Arábia Saudita ele alterou completamente o seu comportamento.
Durante nove anos Carmen Bin Ladin suportou a repressão a que era submetida. Começou também a temer pelas filhas. Lutou, e conseguiu, para que a família vivesse durante algum tempo na Suíça.
Quando o casamento com Yeslam se tornou insustentável, ela permaneceu aí com as suas filhas. Estas são livres, mas mantêm o apelido.
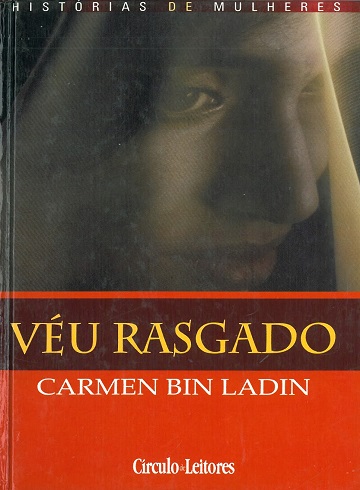
Minhas adoradas Wafah, Najia e Noor, É com grande alegria e esperança - e também com alguns receios - que empreendo a tarefa de escrever a história da minha vida. Este livro é para vocês. É evidente que já ouviram algumas das minhas histórias e estão vagamente conscientes do modo de vida saudita, mas espero que isto vos permita compreender a parte do ambiente que vocês, Wafah e Najia, esqueceram completamente, e que tu, Noor, nunca conheceste Ao longo dos anos, vendo-as crescer e transformar-se nos lindos seres humanos que são, cheguei à conclusão de que o conhecimento das minhas experiências pessoais na Arábia Saudita lhes dará uma melhor compreensão dos tempos difíceis que tiveram de atravessar desde que deixaram o país.
Como sabem, é minha profunda convicção de que a liberdade de pensamento e de expressão é o dom mais valioso de todos. Quero que nunca tomem essa liberdade como certa e quero reafirmar o que vocês já sabem: que, embora a riqueza material possa proporcionar prazer, ela não tem qualquer significado quando existe numa gaiola doirada - sobretudo tendo, como mulher, uma pessoa não pode fazer o que quer nem ser o que deseja,
Embora, por motivos óbvios, eu não tenha voltado à Arábia Saudita nos últimos anos, continuo a discutir o que lá se passa com os amigos que mantenho no interior do reino. Vejo que as vidas deles não evoluíram. No fundo do meu coração, estou convencida de que a minha decisão de vos educar segundo os valores ocidentais foi a correcta, mesmo que o resultado tenha sido o corte de ligações com aquele país. A única coisa que lamento - e sempre lamentarei - é o preço emocional que vocês tiveram de pagar. Mas espero que vos console saberem que me sinto honrada e privilegiada por ser vossa mãe. Sem vocês, sei que seria uma pessoa muito inferior, porque as minhas filhas são a fonte da minha coragem, da minha força, da minha vontade.
Acima de tudo, quero que saibam que quaisquer passos que eu tenha dado - certos ou errados - tiveram origem no meu amor por vocês. Obrigada pelo que me deram, por serem como são, por serem vocês.
Onze de Setembro
O dia 11 de Setembro de 2001 foi uma das datas mais trágicas do tempo em que vivemos. Levou e destruiu as vidas de milhares de pessoas inocentes. Roubou ao mundo ocidental a sua sensação de liberdade e segurança. Para mim, foi um pesadelo de sofrimento e horror, do qual eu e as minhas três filhas nunca nos libertaremos.
No entanto, o 11 de Setembro começou como um belo dia de finais do Verão. Eu seguia de carro de Lausana para Genebra com a minha filha mais velha, Wafah, quando um amigo me ligou de Nova Iorque para o telemóvel.
- Aconteceu agora mesmo uma coisa terrível - disse ele, ansioso, do seu escritório a poucos quarteirões do local do ataque. -- E incrível... Um avião atingiu uma das torres do World Trade Center! - E depois, num tom mais excitado, gritou: - Espera um instante... Há outro avião... Vai direito à segunda torre. Ai, meu Deus! - £ depois aos gritos: - Atingiu a segunda torre! Quando descreveu o segundo impacte, qualquer coisa estalou dentro de mim. Aquilo não era um acidente. Tinha de ser um ataque deliberado, planeado, a um país que eu sempre amara e que considerava a minha segunda pátria. Fiquei gelada e depois senti-me percorrida por ondas de horror ao compreender que algures no fundo daquilo estava a sombra do meu cunhado, Osama Bin Laden. ( Nota 1 )
( Nota 1 ) - As transliterações dos nomes árabes variam consideravelmente. Segundo a norma, a grafia «Bin Laden» é utilizada quando se refere o clã, e «Bin Ladin» quando se referem Yeslam e Carmen. (N. do E)
A meu lado, no carro, Wafah gritava:
- O que foi? O que foi que aconteceu?
Sentia-me em estado de choque. Mal consegui pronunciar algumas palavras. Wafah vivia em Nova Iorque. Acabara de se licenciar em Direito na Universidade de Colúmbia e passara o Verão comigo na Suíça. Planeava voltar ao seu apartamento nova-iorquino daí a quatro dias. Naquele momento, lavada em lágrimas, tentava freneticamente ligar do seu telemóvel para todos os amigos.
O meu primeiro impulso foi telefonar à minha melhor amiga, Mary Martha, na Califórnia. Precisava de ouvir a sua voz. tia ja sabia do duplo ataque em Nova Iorque, e disse-me que um terceiro avião acabava de atingir o Pentágono. Era como se o mundo girasse descontrolado. Pelo menos, era o que eu sentia.
Dirigi-me imediatamente para o liceu frequentado pela minha filha mais nova, Noor. A expressão chocada dos olhos dela disse-me que já sabia. O sangue fugira-lhe completamente do rosto.
Fomos imediatamente para casa, ao encontro da minha filha do meio, Najia, que voltava da faculdade. Também ela estava destroçada. Como muitos milhões de pessoas por todo o mundo, sentámo-nos a ver a CNN, hipnotizadas, alternadamente a chorar e a telefonar a todas as Pessoas conhecidas.
Há medida que as horas passavam, o meu pior receio tornou-se realidade. A cara e o nome dum homem aparecia em todos os boletins noticiosos. Osama Bin Laden. O tio das minhas filhas. Um homem cujo apelido compartilhavam, mas que não conheciam pessoalmente e a cujos valores eram completamente alheias. Senti-me invadida por uma terrível sensação de destruição. Aquele dia ia transformar a nossa vida para sempre.
Osama Bin Laden é irmão do meu marido, Yeslam, mas mais novo. É um de muitos irmãos, e só o conheci vagamente guando vivi na Arábia Saudita, há muitos anos. Na altura, Osama era um rapaz, mas já possuía uma presença imponente. Alto, severo, a sua feroz religiosidade era assustadora, até para os membros mais crentes da família.
Durante os anos em que vivi no meio da família Bin Laden na Arábia Saudita, Osama acabou por exemplificar tudo o que me repelia nesse país opaco e severo: o inflexível dogma que governava a nossa vida, a arrogância e o orgulho dos Sauditas e a sua falta de compaixão por quem não compartilhasse as suas crenças. O desprezo pelos estranhos e a irredutível ortodoxia impeliram-me para uma batalha de catorze anos por uma vida no mundo livre para as minhas filhas.
Na minha luta para cortar os laços com a Arábia Saudita, comecei a acumular informações sobre a família do meu marido, os Bin Laden. Vi Osama crescer em poder e notoriedade, mergulhando em espiral numa fúria assassina contra os Estados Unidos da América do seu reduto no Afeganistão.
Osama era um senhor da guerra, que ajudou os rebeldes Afegãos na luta contra a ocupação soviética do seu país. Quando os Soviéticos partiram, Osama voltou para casa, para a Arábia Saudita. Para muitos era já um herói.
Quando o Iraque invadiu o Kuwait, em 1990, Osama ficou indignado com a ideia de que as forças dos Estados Unidos pudessem utilizar a Arábia Saudita como base. Ofereceu os seus guerreiros afegãos ao rei saudita Fahd para lutar contra Saddam Hussein. Alguns dos príncipes mais religiosos acharam meritória a ideia de Osama, mas o rei Fahd recusou. Osama começou então a fazer declarações incendiárias contra a corrupção e decadência moral da família governante saudita, bem como dos Americanos, que a defendiam- Por fim, foi obrigado a deixar o país, refugiando-se no Sudão, onde os seus homens armados eram guardados por sentinelas em tanques de guerra. Depois, decidiu voltar para o Afeganistão. Nesse tempo, eu ainda falava com o meu marido, Yeslam, apesar de já estarmos separados, e ele mantinha-me ao corrente dos acontecimentos na Arábia Saudita e na família Bin Laden, incluindo o paradeiro de Osama. Yeslam disse-me que o poder do irmão estava a aumentar, mesmo no exílio. Segundo ele, contava com a protecção do príncipe herdeiro Abdallah, conservador e altamente respeitado, chefe da Guarda Nacional .Saudita e herdeiro do reino.
Em 1996, quando um camião armadilhado atingiu o alojamento das forças americanas em Dahran, no Leste da Arábia Saudita, Osama foi mencionado como presumível culpado. Que outra pessoa podia ter acesso a suficientes explosivos e utilizá-los num país tão bem controlado? Osama era um guerreiro, um fanático, e filho da família proprietária da Corporação Min Laden, a mais rica e poderosa companhia construtora da Arábia Saudita. Conhecendo as ideias ferozmente extremistas de Osama, percebi que ele era capaz duma terrível e cega violência.
Enquanto os ataques se sucediam, fui lendo tudo a que consegui deitar a mão sobre Osama. Assim, no dia 9 de Setembro de 2001, quando surgiu a notícia do ataque ao afegão Ahmed Shah Massoud, percebi que fora obra dele. Liguei logo a televisão, com um terrível pressentimento.
- Isto é o Osama. E está a preparar-se para alguma coisa realmente horrível.
- Ora, Carmen, estás obcecada - troçou uma amiga. Mas eu sabia.
Quem me dera estar enganada.
Porém, nunca me ocorreu que ele estivesse a planear um ataque ao coração de Nova Iorque. Pensei que talvez fosse a uma Embaixada, o que já seria suficientemente mau. Mas, quando o World Trade Center ruiu em chamas apenas dois dias após a morte de Massoud, senti-a de novo, a terrível sensação na boca do estômago, o medo.
E agora sei que ela nunca desaparecerá.
Nos dias que se seguiram ao ataque ao World Trade Center, as nossas vidas giraram em torno dos boletins noticiosos. O número de vítimas continuava a aumentar, enquanto a poeira assentava nas ruas cinzentas da cidade favorita das minhas filhas. Víamos as pessoas à procura dos desaparecidos, apertando velhas fotografias nas mãos. Parentes enlutados contavam aos repórteres as últimas mensagens telefónicas deixadas nos atendedores de chamadas pelos seus entes queridos antes de morrerem. Víamos as terríveis imagens de pessoas a saltar, e eu pensava constantemente: «E se a Wafah estivesse ali?» Senti profundamente o sofrimento daquelas mães, daqueles filhos.
As minhas três filhas estavam arrasadas pelo sofrimento e pela incompreensão. Noor, a garotinha que apenas um ano antes trouxera da Carolina do Sul uma bandeira americana para colocar na parede do quarto, ficou completamente desalentada.
- Oh, mãe, Nova Iorque nunca mais vai ser a mesma... - soluçou ela.
Felizmente, não chegou a ser alvo da hostilidade das colegas, já que sempre fora conhecida pelos rasgados elogios pró-americanos, que provocavam mesmo a troça amigável de todos eles. Os amigos compreenderam que a minha filhinha estava realmente muito magoada.
Mal saíamos de casa. Os repórteres não paravam de telefonar, porque eu era a única Bin Laden na Europa com número de telefone na lista. Os amigos ligavam, com vozes tensas, até que deixaram de o fazer. Estávamos a tornar-nos rapidamente pessoas incómodas. O nome Bin Laden assustava até os mais duros profissionais. Uma nova firma de advocacia recusou-se a representar-me no processo de divórcio e vi-me de repente sem advogado.
De todas nós, foi Najia quem se centrou mais no sofrimento das vítimas do World Trade Center. Durante a maior parte do tempo, foi incapaz de ver televisão. O seu apelido estava a tornar-se do domínio público, o que era particularmente duro de suportar para uma pessoa tão introvertida como ela. Najia é provavelmente a mais discreta das minhas filhas. Não demonstra as suas emoções com facilidade, mas percebi como fora afectada.
A terrível ironia era que nos identificávamos e sofríamos com as vítimas, enquanto o mundo nos via como agressoras. Fôramos apanhadas numa situação absurda, digna de Kafka, principalmente Wafah. Depois de quatro anos de faculdade de direito, a vida dela decorria em Nova Iorque. O seu apartamento ficava a alguns quarteirões do World Trade Center. Falava dia e noite dos amigos de lá, sentindo que tinha de estar em Nova Iorque e querendo regressar imediatamente.
Então, um jornal publicou que Wafah fora prevenida e, segundo ele, fugira de Nova Iorque uns dias antes do ataque, o que não era verdade. Wafah estava comigo na Suíça desde Junho. Mas outros jornais pegaram na notícia, declarando que Wafah soubera do ataque com antecedência e nada fizera para proteger as pessoas e o país que amava.
Uma amiga que ficara no apartamento de Wafah em Nova Iorque telefonou a dizer que começara a receber ameaças de morte. Era uma reacção compreensível. Como podiam os estranhos distinguir um Bin Laden de outro?
Senti que não havia escolha. Estava sozinha para defender minhas filhas. Pronunciei uma declaração dizendo que as minhas três filhas e eu não tínhamos qualquer ligação com aquele diabólico e bárbaro ataque à América, um país que amávamos e cujos valores compartilhávamos e admirávamos. Apareci na televisão e escrevi para os jornais, expressando o nosso pesar. A minha longa batalha para me libertar e às minhas filhas da Arábia Saudita era a única prova de inocência que podia apresentar. Isso, a nossa boa vontade e a dor que sentíamos pelas vítimas de Osama.
Durante muito tempo ansiara pelo fim da minha amarga luta contra os Bin Laden, mas agora enfrentava uma nova luta. Teria de guiar as minhas filhas através da angústia que sentiam ao ver o seu apelido ser considerado sinónimo de mal, infâmia e morte.
A minha vida particular acabava de tornar-se uma história pública.
Ironicamente, foi só depois do 11 de Setembro que a minha luta de catorze anos para me libertar da Arábia Saudita começou a fazer sentido para as pessoas à minha volta. Antes disso, julgo que ninguém compreendia realmente do que se tratava - nem os tribunais, nem o juiz, nem sequer os meus amigos. Até no meu próprio país, a Suíça, me consideravam como mais uma mulher a enfrentar um complicado divórcio internacional.
No entanto, eu sempre soube que a minha luta ia muito mais fundo do que isso. Lutava para obter liberdade duma das mais poderosas sociedades e famílias do mundo, para salvar as minhas filhas duma cultura impiedosa que lhes negava os mais básicos direitos. Na Arábia Saudita, elas nem sequer podiam andar pelas ruas sozinhas, e muito menos escolher o caminho das suas próprias vidas. Lutava para as libertar dos imutáveis valores fundamentalistas da sociedade saudita e do seu desprezo pela tolerância e liberdade do Ocidente, que eu aprendi a valorizar profundamente.
Receio que, mesmo na actualidade, o mundo ocidental não entenda perfeitamente a Arábia Saudita e o seu rígido sistema de valores. Vivi lá durante nove anos, dentro do poderoso clã Bin Laden, com as suas estreitas e complexas ligações à família real. As minhas filhas frequentaram escolas sauditas. Vivi, em grande parte, a vida duma mulher saudita. E, com o decorrer do tempo, aprendi e analisei os mecanismos dessa sociedade sombria e as duras e amargas regras que ela impõe às suas filhas.
Não podia ficar de braços cruzados enquanto as brilhantes mentes das minhas queridas filhas eram destruídas. Não podia vê-las ser estigmatizadas como rebeldes por causa dos valores ocidentais que eu lhes ensinava, com todos os castigos que podiam advir. E, se elas obedecessem à sociedade saudita, era-me impossível enfrentar a perspectiva de as ver crescer como as mulheres sem rosto e sem voz entre as quais eu vivia.
Acima de tudo, não podia ver as minhas filhas privadas daquilo a que dou mais valor: a liberdade de escolha. Precisava de as libertar e de me libertar a mim própria.
Esta é a minha história.
Um jardim secreto
Pairava no ar uma sensação de despreocupação quando conheci o meu marido, Yeslam. Estávamos em 1973, e os jovens governavam o mundo. Eu era extrovertida e sociável, com o liceu terminado dois anos antes. Mas, nesse Verão, sentia-me ligeiramente perdida, sem saber bem que caminho escolher para a minha vida. O Direito interessava-me, e queria defender os indefensáveis. Queria viajar e ter aventuras. Queria, sobretudo, dar à vida um significado. Mas a minha mãe, originária duma família aristocrática persa, estava decidida a ver-me seguramente casada.
As minhas três irmãs e eu costumávamos juntar-nos num dos nossos quartos, na nossa casa nos arredores de Genebra, para ouvir os discos dos Beatles e falar do futuro. Eu era a mais velha, e possivelmente a que mais falava. Nesse tempo, insistia sempre em que nunca casaria com um homem do Médio Oriente, como a minha mãe queria. Sentia-me atraída pelas vidas mais livres dos americanos que via quando era pequena no Clube Americano perto da casa da minha tia-avó no Irão. As vidas deles pareciam-me valentes, modernas... livres. Conduziam jipes, usavam calças de ganga e comiam hambúrgueres. Em contrapartida, as pessoas do Médio Oriente levavam vidas que me pareciam fechadas, tolhidas por camadas de tradição e sigilo, vidas em que as aparências eram mais importantes do que os desejos.
Eu era suíça, nascida em Lausana, de pai suíço e mãe persa. A família da minha mãe, os Sheibany, era culta e aristocrática. Quando eu era pequena, a minha mãe levava-nos mais ou menos todos os anos ao Irão para umas longas férias. Eu adorava o país, a comida condimentada, tão subtil e aromática; o hectare de roseiras tratadas por jardineiros invisíveis no jardim de altos muros da minha avó; e a grande casa onde a minha mãe crescera, com a sua sauna de azulejos azuis cheia de vapor, a enorme biblioteca de livros antigos, as persianas rendadas, os coloridos tapetes e as belas antiguidades.
Em pequena, pensava que o Irão era um país especial, cheio de cor e intensidade. Adorava os meses que lá passávamos. A minha avó tratava-me como uma princezinha. Eu adorava-a e ela adorava-me.
Uma vez, quando eu tinha sete ou oito anos, a minha mãe deu uma festa na casa da minha avó, no Irão. As salas encheram-se de amigos com quem ela crescera: famosos escritores e intelectuais de velhas famílias, que compartilhavam o aristocrático desprezo da minha avó pelo xá, recém-chegado ao trono. As suas discussões estavam muito acima da minha compreensão, mas o ambiente era excitante. Quando chegou a hora de ir para a cama, neguei-me a subir para o meu quarto.
- O papá está a chegar - insistia eu, embora a minha mãe repetisse que ele estava a trabalhar, na Suíça. Nessa noite, esgotei completamente a paciência da minha mãe. Então, quando estava prestes a desistir e ir para a cama, o meu adorado pai entrouw em casa. Não telefonara a avisar. Limitara-se a apanhar um avião, num impulso. Fiquei encantada e maldosamente triunfante.
Quando a minha avó percebeu que eu realmente não podia saber da chegada do meu pai, baixou-se, segurou-me com os braços bem esticados e olhou-me nos olhos.
- És uma pessoa muito especial, Carmen. Nunca te esqueças disso - disse ela.
Todas as crianças deviam sentir o que eu senti nessa noite.
A minha avó tinha uma piscina, e o meu belo e encantador pai suíço costumava mergulhar do último andar da casa, perante os nossos gritos de horror e encanto. Um dia, a minha irmãzinha Béatrice, que mal andava, caiu à água, e a minha mãe com um efeitado vistido de seda rosa, saltou imediatamente lá para dentro para a salvar. A saia rodada ficou logo inchada como um pára-quedas. Ainda hoje consigo ver a minha mãe a sair da água com a minha irmã nos braços, completamente vestida, a água a escorrer-lhe do vestido, mas ainda com um aspecto impecável.
Fui uma criança curiosa e, como muitas outras crianças, sentia a importância das conversas dos adultos, mesmo quando os pormenores ficavam muito além da minha compreensão. Desde que me lembro, toda a vida procurei analisar as coisas à minha volta, mesmo quando elas pareciam fora do meu alcance.
Quando andava pelos sete anos, reinou grande perturbação em casa da minha avó, porque um primo da minha mãe, Abbas, foi preso e torturado pela temida polícia secreta do xa. Afirmavam que ele era membro do Partido Comunista Tudeh.
Nesse Verão, a grande canção na rádio era Marabebous - uma canção sobre um homem condenado à morte, que pedia à filha que lhe desse um último beijo. Eu costumava ouvi-la vezes seguidas, cheia de pena. Quis saber por que motivo o homem ia morrer, e perguntei a mim mesma se o primo da minha mãe teria a mesma sorte. Qual seria o crime dele? Suponho que foi a primeira vez que tive consciência de que alguem podia pagar com a vida as suas crenças.
O Irão era o meu jardim secreto, algo que me tornava diferente das outras rapariguinhas suíças na escola primária dos arredores de Lausana. Mas, quando fiz nove anos, a minha mãe cortou repentinamente todos os laços com o Irão. O meu Pai deixou-a, e ela não quis admiti-lo. Se reconhecesse que o casamento falhara, ficaria humilhada perante os parentes. Portanto, em vez de dizer a verdade, recusou qualquer contacto com a própria família.
Durante muito tempo, nem sequer nos disse, às suas quatro filhas, que estavam a separar-se. Limitou-se a comunicar que o nosso pai estava fora, em negócios. O instinto dizia-me outra coisa, mas sabia que era assim que a minha mãe vivia. Se uma coisa era desagradável, evitava-se, negava-se, suprimia-se. Nunca falando dela, deixava de existir. O que contava era manter a dignidade.
Depois de o meu pai nos deixar, a minha mãe criou-nos sozinha, com a ajuda duma governanta. Durante anos, não tive qualquer contacto com o meu pai, e ninguém me explicou o motivo. Aprendi a não perguntar. Percebi muito cedo que teria de viver entre duas culturas, apanhada algures entre o Irão que formara as estritas regras de comportamento da minha mãe e a escola suíça que frequentava. A nossa casa era um estranho espaço silencioso onde tudo o que era importante ficava por dizer.
Sabia que a minha mãe nascera muçulmana, porque o seu pai o era. No islão, segue-se a fé do pai. Mas a minha mãe fazia-o sem grande rigor. Não era praticante. Vi-a rezar algumas vezes, mas não a curvar-se e a ajoelhar-se de frente para Meca. Quando queria rezar, tanto podia entrar numa igreja como numa mesquita. Não jejuava durante o mês do Ramadão, nem tapava a cabeça. Vi a minha avó ocasionalmente de véu, quando se matava carneiros para distribuir pelos pobres. Ser muçulmano parecia natural se se era do Médio Oriente, mas não impunha determinado estilo de vida à minha mãe ou a nós, crianças.
Foi o sentido de decoro da minha mãe que restringiu as nossas vidas de raparigas suíças normais. Não podíamos ter brincadeiras brutas nem a roupa amarrotada, não havia festas à noite nem saíamos com rapazes. (Como todos os adolescentes, aprendemos a dar a volta a essas estritas regras. Não éramos anjos e ela nunca nos fechou à chave.) Embora achasse importante continuarmos a estudar, o casamento era o seu objectivo final para nós.
A minha mãe tentou orientar cada pormenor da nossa existência. Até eu ser mais velha e me rebelar abertamente, a nossa mãe vestia as quatro exactamente de igual, até às fitas que usávamos nas tranças.
- Podem estar perfeitamente elegantes, mas, se tiverem uma única nódoa, são zeros! - dizia ela. Para a minha mãe, o decoro era vital.
Já adulta, uma das primas da minha mãe contou-me a história do casamento dos meus pais. A minha mãe estava em Lausana a estudar e aí conheceu o meu pai, suíço. Fugiram para Paris, e voltaram de lá casados, o que impossibilitou a família de fazer fosse o que fosse. Ela era assim por dentro, impetuosa e rebelde, o género de mulher que daria às filhas os nomes de Carmen, Salomé, Béatrice e Magnolia. A minha mãe deixou o seu país, fugiu para casar com um homem escolhido por si, conduzia um automóvel. Num certo sentido, estranhamente, foi uma pioneira.
Porém, mais tarde, reprimiu essa personalidade, talvez por o casamento ter falhado. Enquanto crescíamos, a minha mãe parecia preocupar-se apenas com o que as outras pessoas podiam pensar. Insistia em educar as filhas dentro das convenções de que ela própria procurara fugir. Não podia admitir que o meu pai a trocara por outra, porque o casamento falhado provaria à própria mãe que a fuga para Paris fora um erro.
Era isso que significava para mim ser do Médio Oriente: viver atrás de segredos, esconder as coisas desagradáveis, submeter-se às convenções da sociedade. O intuito de evitar qualquer humilhação podia justificar desonestidade. Só as aparências contavam.
A minha personalidade era diferente. Para mim, a verdade era importante. E não gostava de me submeter. Em vez de me curvar perante as regras da minha mãe, comecei a enfrentá-la, desafiadora. Lembro-me de lhe dizer que parasse de me empurrar para situações em que seria obrigada a mentir-lhe. Queria forçá-la a aceitar a realidade do meu carácter.
No liceu, tanto a minha irmã Salomé como eu começámos a fumar. A minha mãe propôs comprar-nos o que quiséssemos para deixarmos de fumar. Salomé quis um carro, de maneira que a minha mãe lhe comprou um Fiat. Mas ela continuou a fumar às escondidas.
A minha mãe levou-me a uma loja e fez-me experimentar um casaco de pele de leopardo.
- Promete-me que nunca mais fumas um cigarro, e eu compro-te já o casaco, hoje - disse ela. Eu queria realmente o casaco, mas não me apetecia fazer uma promessa que sabia que não podia cumprir.
Ao aproximar-me da idade adulta, vi-me confrontada com uma desordem moral, prejudicada pelas contradições da minha educação e da minha personalidade. Vivia no Ocidente, era impetuosa, impulsiva, ansiava por ser livre. Mas grande parte da minha existência permanecia arreigada às convenções da cultura do Médio Oriente, onde as regras do clã são mais importantes do que a personalidade. As pessoas podem conseguir fugir às suas tradições durante algum tempo, mas essas regras acabam por as apanhar.
Sabia que precisava de decidir por mim própria o caminho a seguir, mas era demasiado inexperiente e estava demasiado confusa para o fazer sozinha. Esperava uma ajuda, alguma espécie de sinal.
A Paixão
Quando vi Yeslam pela primeira vez, não fazia ideia de que ele ia mudar a minha vida para sempre. Era Primavera, e nesse ano havia muitos sauditas em Genebra. As minhas irmãs e eu planeávamos visitar a avó no Irão durante as férias de maneira que a nossa mãe concordara em alugar um andar da nossa casa a uma família saudita de férias na Europa. Um jovem magro, vestido de preto da cabeça aos pés, apareceu para finalizar o acordo. Deitei-lhe uma olhadela e ele sorriu delicadamente.
Então, a avó feriu uma perna, e a viagem ao Irão foi cancelada. Era demasiado tarde para anular o aluguer, de maneira que eu e as minhas irmãs andámos dum lado para o outro entre um apartamento em Lausana e a nossa casa, onde minha mãe recebeu os seus hóspedes sauditas.
A mãe de Yeslam era iraniana, como a minha: uma mulher de voz suave, com um rosto redondo e doce e o cabelo pintado de preto retinto. Falávamos persa. Os irmãos mais novos de Yeslam, Ibrahim e Khalil, usavam o cabelo tipo carapinha e sapatos de sola alta. Fawzia, a irmã mais nova, tinha o aspecto de qualquer adolescente europeia, com apertadas camisolas de manga curta, longo cabelo ondulado e grandes óculos escuros. E, depois, havia Yeslam.
Ele intrigava-me. Era calmo, mas possuía uma atraente autoridade natural. Esbelto, bronzeado e belo, não falava muito, mas os seus olhos eram penetrantes e bondosos. E olhavam quase sempre para mim.
A pouco e pouco, começámos a conversar em inglês um com o outro, e a simples troca de palavras acabou por se transformar em longas conversas. À medida que o tempo passava, Yeslam ia ficando cada vez mais atencioso. Começou a insistir em que eu o acompanhasse e à família nas suas voltas pela cidade. Yeslam era louco pelos seus dois dobermans. Tinha vinte e quatro anos. Ligeiramente mais velho do que eu e os meus amigos, diferente, agia como um adulto. Fazia o que queria, era responsável, e o dom de chefiar parecia natural nele. Para todos, mesmo a mãe, os irmãos e as irmãs, a palavra de Yeslam era lei. Até a minha mãe começou a aconselhar-se com ele.
Vejo agora que a autoridade natural de Yeslam vinha da cultura saudita dentro da qual cresceu e em que o filho mais velho comanda cada gesto do seu clã. Mas naquela altura, via apenas um homem exótico e belo que me cortejava e cuja companhia acabei por achar fascinante.
Yeslam era calmo e perspicaz. Possuía um espírito vivo e uma vontade de ferro. E lembrava-se em pormenor de tudo o que eu dizia. Compreendia-me, e parecia precisar de mim. Comecei a achar-me a única pessoa do mundo em quem ele podia confiar. Não houve um momento que possa apontar como aquele em que me apaixonei subitamente. Mas estava apaixonada.
O Verão ia passando e Yeslam e eu procurávamo-nos todos os dias. Ficávamos juntos cada momento livre. Nessa altura encontrei os documentos do divórcio dos meus pais, o que me perturbou. Vi o meu pai a uma luz diferente. O belo, autoritário e amoroso papá por quem eu ansiava tanto revelava-se mau e mesquinho. A minha mãe, segundo parecia, escondera muitas coisas de mim, coisas importantes, que eu achava que merecia saber.
Chorei no ombro de Yeslam, e disse-lhe que nunca podia casar, porque não queria que os meus filhos fossem abandonados pelo pai como o meu fizera comigo e com as minhas irmãs. Não queria que filhos meus viessem a passar por um amargo divórcio como o dos meus pais. Yeslam confortou-me. vi que me compreendia, que estava segura com ele.
21
ensinar-me a conduzir, no seu Porsche, e eu bati no portão da nossa casa. Pensei que ficasse aborrecido, mas não pareceu importar-se. Limitou-se a sorrir e a dizer:
- És um perigo a guiar.
Yeslam adorava o seu carro novinho em folha, mas nessa noite deve ter percebido que gostava ainda mais de mim.
Conduzir era uma das suas paixões. Tivera lições de condução de corrida na Suécia. Passámos tardes juntos a correr pelas montanhas suíças, com Schubert aos berros na aparelhagem do carro.
No começo do nosso amor, eu via Yeslam só como um namorado e não como um pretendente. Uma das coisas que mais me atraía nele era parecer tão independente. E eu também queria tanto ser independente. Adorava conversar com ele. Quando amuava, punha-me doida. Nunca ralhou comigo mas, quando eu falava muito tempo com os meus amigos, ficava calado e eu sentia-me imediatamente culpada. Ele queria toda a minha atenção, durante todo o tempo. Era muito reservado com toda a gente. Gostava do facto de eu ser extrovertida, mas eu não queria que ele se sentisse desconfortável. Compreendia que havia limites. Curiosamente, sentia-me lisonjeada por ele me querer só para si. Dava-me uma sensação de segurança.
O nosso caso começou a tornar-se mais do que um mero romance de Verão. Yeslam envolvia-me na sua vida particular, apresentando-me à sua numerosa família. Disse-me que tinha vinte e quatro irmãos e vinte e nove irmãs. Eu não conseguia imaginar sequer o que isso significava em termos práticos, e suponho que o choque deve ter-se reflectido na minha expressão, porque ele me garantiu que era realmente uma família invulgarmente grande, mesmo pelos padrões sauditas.
Conheci o irmão mais velho de Yeslam, Salem, quando ele passou pela Suíça, e fiquei impressionada pela sua abertura e sociabilidade, comparado com Yeslam. Salem possuía um grande sentido de humor, ria muito e tocava Oh Susannah numa gaita-de-beiços. Parecia muito ocidentalizado em comparação com Yeslam, que era tão discreto, mas percebi que existia uma complexa luta latente pelo poder entre os dois.
Embora não pudesse ter mais de trinta anos, Salem exibia uma atitude quase paternal para com Yeslam, que se irritava com isso.
- O Salem pensa que, lá porque é o chefe da família, manda em mim – disse-me ele, disfarçando mal o seu aborrecimento. – Mas eu não preciso de que ele me dê licença para fazer o que quero!
Aparentemente, partilhávamos uma luta, eu contra a minha mãe e ele contra o irmão.
Uma tarde, quase no fim do verão, andávamos a passear os cães pelo jardim, e começámos a falar do futuro. Yeslam disse que queria regressar à Arábia Saudita e criar dobermans. Achei a ideia disparatada. Via grande potencial nele; parecia-me mesmo excepcional. Então, disse-lhe que era demasiado inteligente para se contentar com aquilo, e que devia ser mais ambicioso, continuar a estudar e fazer alguma coisa da sua vida. Ele respondeu-me:
- Vou fazer, mas só se casares comigo.
Foi uma espécie de desafio. E, de certo modo, também um apelo. Parecia que não era só eu a esperar que alguém lhe mostrasse o caminho a seguir. Por isso, percebi que não se tratava duma brincadeira. Yeslam falava a sério.
Dei uma gargalhada e respondi que ia pensar. Mas ambos sabíamos que eu estava a dizer-lhe que sim.
Yeslam continuou na nossa casa depois do verão. Era o meu noivo, o que significava que eu era adulta e, portanto, livre. Tínhamos um homem na família, como não acontecia havia muitos anos, e a minha mãe andava encantada. Acho que, de certa maneira, sentia que a sua filha rebelde passara a ser da responsabilidade de outra pessoa. Já não me perguntava aonde ía quando saía, nem me exigia que voltasse a horas fixas.
Ìamos a clubes nocturnos, como qualquer jovem casal, na Suíça. Yeslam dançava bem, mas não era tão exuberante como Salem. Aliás, disse-me claramente que eu não devia dançar com o irmão, se ele me convidasse. Se o fizesse, ele podia ficar com uma impressão errada a meu respeito. Essa foi uma das minhas primeiras apresentações às muitas regras estranhas da Arábia Saudita. Uma rapariga que dance com outro homem - mesmo com o irmão do namorado - não é respeitada.
O nosso primeiro desacordo teve lugar na estação de caminho-de-ferro de Lausana. Eu quis qualquer coisa para comer, e havia uma longa fila de pessoas à espera para comprar sanduíches. Yeslam dirigiu-se directamente ao vendedor e o homem disse-lhe em tom grosseiro que fosse para a bicha. Yeslam fez uma coisa inesperada: atirou uma nota de cem francos suíços para cima do balcão e afastou-se. Ter avançado para a frente da fila era uma coisa - talvez não tivesse compreendido que as pessoas estavam à espera de ser atendidas. Mas atirar aquele dinheiro todo para cima do balcão e afastar-se? Era estranhíssimo.
Mais tarde, disse-lhe que não compreendia a reacção dele, que me parecia que recompensara o homem pelo modo rude com que se lhe dirigira. Mas Yeslam não podia tolerar que um estranho lhe dissesse como devia comportar-se. Não se submetia, ocupando o lugar que lhe competia na fila, nem se enfurecia com o homem. Atirava-lhe dinheiro, para mostrar o seu desprezo. Para ele, era uma atitude lógica. Mas eu, pela primeira vez, achei o seu comportamento estranho.
Em Novembro, Yeslam levou-me ao Líbano, pátria dum dos meus filósofos preferidos, Khalil Gibran, cuja obra O Profeta fora minha constante companhia durante a adolescência. Foi fantástico, como um conto de fadas.
Eu era uma mulher adulta, a viajar com o homem que me amava. Para mim, o Líbano fazia parte do mundo árabe, uma civilização que fora a pátria de visionários e sábios descobridores dos segredos das estrelas e de matemáticos. Beirute, antes da guerra civil, era como a Arábia d'As Mil e Uma Noites: opulência, cores, cheiros e, acima de tudo, a luz do sol alaranjada do Mediterrâneo. Yeslam foi duma atenção incansável. Deitávamo-nos tarde, comíamos do que gostávamos e fazíamos o que queríamos. Era maravilhoso estar apaixonada. Dava uma nova perspectiva à minha vida.
Parecia que, onde quer que fôssemos, encontrávamos mais irmãos de Yeslam. No Líbano, encontrámos Ali e Tabet. Fisicamente muito diferentes, Ali era alto e de aspecto típico do Médio Oriente, com uma mãe libanesa; a de Tabet era etíope, e ele era negro. Só nessa altura é que compreendi que o pai deles tivera vinte e duas mulheres. Em vez de permitir que as implicações criassem raízes, decidi aceitar aquilo como um imbiente exótico. Estava apaixonada, e aquele labirinto de ligações familiares era apenas outra parte desfocada do meu maravilhoso romance.
Dali seguimos para o Irão, onde passámos três dias com alguns parentes da minha mãe, embora não com a minha avó, na altura a tratar-se nos Estados Unidos. Foi no Irão que passei a observar algumas coisas com clareza. Em criança, durante as férias, via mendigos nas ruas. Iam muitas vezes ao bairro da minha avó, pedir comida e roupa usada. Um dos meus tios costumava minimizar a pena que sentíamos:
- Ora, não se ralem. Eles têm dinheiro. Não querem é trabalhar!
Todavia, quando Yeslam me levou ao bazar em Teerão, para comprar um tapete, vi uma miséria terrível. Rapazinhos e velhotes vergados sob o peso de fardos enormes: uns deviam estar na escola e os outros em casa, todos demasiado frágeis para trabalhar. Em vez disso, ali estavam carregados como burros. A minha vida fora sempre tão protegida que nunca vira uma coisa daquelas, e desatei a chorar.
Yeslam levou-me de volta para o carro, e até o motorista tentou consolar-me:
- Acha que aquelas pessoas são pobres? Têm sorte por arranjar trabalho. Posso levá-la a ver famílias a viver em buracos feitos na terra - disse ele, o que tornou tudo ainda pior. Fiquei inconsolável. Nem Yeslam conseguiu confortar-me. Cheguei à conclusão de que o Irão que eu recordava da infância era uma ilusão, com base numa dura realidade que eu nunca vira. A minha vida parecia ter sido construída sobre segredos e miragens.
Mais tarde, quando imaginei que a Arábia Saudita se parecia com as minhas memórias infantis do Irão, estava a enganar-me mais uma vez.
Ainda hesitava quanto a casar com Yeslam. Era nova, e o amargo exemplo dos meus pais continuava muito vívido para mim. O casamento era assustador. Mas tínhamos comunicado os nossos planos à minha mãe: a máquina começara a rolar e levava-me consigo.
Em Dezembro de 1973, fomos de avião juntos para os Estados Unidos, para nos matricularmos na universidade. A América era excitante, o sonho da minha infância tornado realidade. As pessoas viviam realmente vidas descuidadas e fáceis. Pareciam muito menos presas às convenções do que alguém que eu alguma vez tivesse conhecido. Adorei os enormes espaços, o estilo de vida, o sentimento de liberdade, a incrível sensação de entrar no futuro.
A América parecia realmente ser a terra da oportunidade, e não apenas para estudar. Tanto Yeslam como eu ficámos com a ideia de que aquele país, com tal abertura, nos oferecia ainda oportunidades de negócios. Na primeira visita para apreciarmos as instalações da Universidade da Califórnia do Sul, em Los Angeles, conhecemos Jerry Vulk, o director do departamento que se ocupava dos estudantes internacionais. Mais tarde, disse-nos que nos reconhecera imediatamente como estrangeiros. A minha saia e saltos altos, e o fato europeu de Yeslam faziam-nos destacar dos outros. Jerry tomou-nos sob as suas asas e mostrou-nos as instalações. Resolvemos começar imediatamente as aulas, no semestre de Janeiro. Yeslam matriculou-se em Estudos Empresariais e eu em Inglês.
Depois, voltámos de avião para Genebra, para passar o nosso primeiro Natal juntos e com a minha família. Yeslam parecia perfeitamente satisfeito, nada chocado pelo facto de, apesar de a minha mãe ser iraniana, termos árvore de Natal e presentes... de celebrarmos o que é, afinal, um feriado cristão.
Umas duas semanas depois do início do nosso primeiro semestre, conhecemos a mulher de Jerry Vulk, Mary Martha Barkley. Foi no dia dos anos dela, e mais tarde ela passou a chamar-nos o seu presente de aniversário. Às vezes, nesta vida, encontramos uma pessoa com quem temos uma afinidade imediata; para mim, essa pessoa foi Mary Martha. Era uma verdadeira senhora, alta, com cabelo escuro e olhos azuis, uma autêntica beldade. Quanto mais a via, mais gostava dela. Possuía uma maneira maravilhosa de se comportar, um sentido
de classe e grande calor humano. Era bondosa. Mary Martha ajudou-nos a encontrar uma casa para alugar; a primeira duma longa série de gentilezas. Ela adoptou-nos.
Mary Martha tornou-se a minha mentora. O seu exemplo ajudou-me a resolver as pontas soltas da minha personalidade, ajudou-me a tornar-me o adulto que desejara ser. Observando-a, senti pedaços do quebra-cabeças da minha educação encaixarem-se perfeitamente. Adorei a sua maneira de ser, independente mas terna, optimista e divertida, elegante e directa na fala. Adorei a maneira como se relacionava com os filhos adolescentes e os ensinava a crescer fortes e verdadeiros. Mary Martha era uma mãe verdeiramente dedicada: acordava todas as manhãs às quatro para levar o filho à natação, sem nunca parecer pressionar os filhos a agir contra a sua vontade.
Era assim que eu queria educar os meus filhos, pensei: a serem eles próprios. Mary Martha nunca me julgou nem tentou dirigir a minha vida como a minha mãe fazia. Ela e eu tornámo-nos mais do que amigas; desenvolvemos um laço profundo e duradoiro. Admirei-a mais do que qualquer outra pessoa, e ela nunca me desapontou. Foi como uma mãe para mim, durante os anos seguintes: a minha mãe americana.
Um dos alunos da minha turma de Inglês era um saudita chamado Abdelatif. Ficou boquiaberto quando soube que eu estava noiva de Yeslam Bin Ladin. Dirigiu-se-me um dia, muito formalmente, para dizer que conhecera o pai de Yeslam, que morrera em 1967. No outro lado do mundo, Abde-latif foi a primeira pessoa a abrir-me os olhos para o conjunto de lendas sauditas que rodeavam o xeque Mohamed Bin Laden. O seu próprio pai trabalhara para o xeque Mohamed em Ciidá, disse ele, como aliás quase toda a gente. O xeque Mohamed nascera pobre e acabara por ser dono duma das mais poderosas companhias de construção do Médio Oriente, ainda segundo Abdelatif. O xeque Mohamed construíra os palácios de reis e príncipes e renovara os locais mais sagrados do islão, era um gigante entre os homens, um herói que trabalhara mais do que qualquer outra pessoa na terra. Era honesto, pieDoso e adorado por todos os que o conheciam. E eu estava apaixonada pelo filho dele.
Convidámos Abdelatif e a mulher para jantar. Mais tarde, ela ensinou-me a fazer pratos sauditas, receitas que ainda faço. As chamuças, pastéis com carne picada, continuam a ser uma das favoritas das minhas filhas. Mas eu era uma cozinheira muito inexperiente e, nesse ano, comemos muita comida feita. A mulher de Adbelatif era nova, mas vestia-se com modéstia, como uma velhota de saias compridas e sem graça. E usava sempre um lenço bem apertado à volta da cara. Era muito reservada, e o próprio Abdelatif mostrava-se sempre tímido comigo, sobretudo nas aulas e quando o meu noivo não estava presente. Nunca me olhava nos olhos.
Na altura, pensei que fosse por causa da ligação com os Bin Laden. Só muito mais tarde é que compreendi que não lhe era permitido olhar para a cara duma mulher que pertencesse a outro homem saudita.
Porém, a Arábia Saudita estava muito longe nesses dias descuidados. Yeslam deixara o país ainda muito novo, apenas com seis anos, quando o xeque Mohamed o mandou para um colégio interno no Líbano e depois para Inglaterra e para a Suécia. A partir dessa altura, só passara os Verões na sua terra. Quanto a mim, não planeara viver na longínqua Arábia Saudita. E éramos tão felizes na América! Sentia que Yeslam estava a construir o nosso futuro num país maravilhoso e livre descoberto por nós. A América era agora a nossa pátria.
E se um dia o destino de Yeslam o levasse para a Arábia Saudita, tudo bem. Seríamos pioneiros. Por fim, eu encontrara a minha missão na vida. O xeque Mohamed, pai de Yeslam, transformara o reino da Arábia Saudita de poeirentos caminhos de camelos construindo altos edifícios e aeroportos. Yeslam, com a minha ajuda, podia fazê-lo chegar mais longe, tornando-o uma sociedade moderna.
Naquele tempo, não sentia medo nem me apercebia de limitações. Encontrara o parceiro da minha vida, Yeslam, e achava que podia enfrentar o mundo. A minha temeridade não tinha limites. Mas que sabia eu? Nada.
O meu casamento saudita
Um dia, apanhei uma pedrinha na campa da minha tia-avó no Irão, e mandei-a engastar em prata. Era apenas um pedaço de pedra, mas para mim um tesouro em cima do meu toucador. No dia em que a apanhei estava com Yeslam e senti que precisava de orientação. Foi como se perguntasse à minha tia-avó se devia casar com aquele homem. A pedrinha acabou por ser uma espécie de símbolo da minha relação com ele. Então, numa manhã de Abril, na nossa casa de Los Angeles, não a encontrei.
- É isso - disse eu a Yeslam. - Quer dizer que não podemos casar.
Yeslam levou aquilo perfeitamente a sério. Às vezes, era mesmo enternecedor. Procurou por todo o lado, chegando a despejar o lixo, até que descobriu a minha preciosa pedrinha caída por trás do toucador. Triunfante, exclamou:
- Agora tens de casar comigo!
Foi nessa altura que percebi quanto eu significava para ele e que queria realmente casar comigo.
A minha mãe insistia constantemente em fixar uma data para o casamento. Gostava de Yeslam e acho que confiava em que ele seria capaz de domar o meu feitio impetuoso. Além disso, estava ansiosa por voltar a ter um homem na família. Assim, Yeslam e eu decidimos finalmente que, quando terminasse o período escolar, eu regressava a Genebra e ele ia até à Arábia Saudita tratar dos preparativos para casarmos antes do fim do Verão. Os Sauditas só podem casar com estrangeiros com autoriação do rei, e essa era a primeira coisa que Yeslam precisava de obter.
Eu queria casar em Genebra, entre a família e os amigos, e pensei que a família de Yeslam podia fazer a viagem. Mas, quando ele voltou com a autorização do rei, disse-me que queria casar em Gidá, a terra da família dele. Isso provaria a todos que o rei concordara oficialmente com o casamento com uma estrangeira, eu. Além disso, as pessoas talvez não me respeitassem tanto se casássemos no estrangeiro. Lá estava mais uma vez a estranha necessidade de ganhar respeito e o ritual quase feudal através do qual eu o ganharia. Espantou-me que a autorização oficial do rei me tornasse mais digna de respeito, mas duma maneira divertida, não ameaçadora.
Estavam em andamento os preparativos para o casamento duma das irmãs dele, Regaih, disse-me Yeslam. Seria mais fácil marcar o nosso para o mesmo dia, 8 de Agosto de 1974. Não fazia a menor ideia de como seria um casamento saudita. Nem sequer lá estivera alguma vez. Portanto, não fiz perguntas. Estava apaixonada, a minha mãe, encantada e, para mim, o casamento cada vez me parecia mais uma formalidade.
Não levei amigos. Conseguir vistos para mim e para a minha família já era suficientemente complicado. Eram só a minha mãe, as minhas irmãs e Mamai, filho da minha tia-avó, que veio do Irão.
Decidi não pedir ao meu pai que estivesse presente, porque não queria obrigar a minha mãe a encontrar-se com ele depois de tantos anos. Sentia que ela havia de o amar toda a vida e sofreria se o visse. Mamai, primo da minha mãe, era o meu parente masculino mais chegado, apesar de mal o conhecer, mas parecia que a sua presença era quase tão importante como a minha. Mamai participaria na cerimónia só para homens, onde representaria a noiva, tomando a mão de Yeslam. A sua presença certificaria que Yeslam e eu podíamos casar. Aparentemente, sem Mamai, não podia haver casamento.
Para mim, era uma ideia bastante cómica. E não só para mim. A minha irmã Magnolia, assim que o via, dizia:
- Olha, vem aí a noiva!
Os meus preparativos foram apressados. Primeiro; era preciso comprar o vestido. Fui ver os modelos da Chanel em Genebra, mas nenhum se parecia com o que eu queria ou se adequava à ideia que eu fazia da Arábia Saudita, com base nas recordações de infância do Irão. Queria uma gola alta, mangas com punhos, uma coisa bastante simples mas de extrema elegância. Por fim, desenhei eu o vestido, que foi feito em organza branca por um costureiro da Casa Chanel, e senti que era eu realmente.
A seguir, o véu, um longo véu de organza branca. Finalmente, era preciso um manto preto para me cobrir a cara e o corpo do mundo à minha volta no país de Yeslam. Ele explicou que era absolutamente necessário.
Comprei o grosso algodão negro e mandei-o fazer. O resultado foi uma vestimenta pesada, como um chador persa, e não a abaya de seda saudita, mais fina. Mas eu não sabia. Aquilo era tão pesado que quase se aguentava em pé sozinho, e parecia comicamente antiquado, como uma máscara.
As minhas irmãs e eu precisávamos também de comprar vários vestidos compridos, segundo Yeslam. Mas em toda a cidade de Genebra não encontrámos fosse o que fosse remotamente adequado, ou seja, vestidos formais mas modestos para festas, e outros mais simples, também compridos, para usar de dia. Tivemos de mandar fazer tudo. Tal como os vestidos de damas de honor em cor de salmão para as minhas irmãs. Foi um nunca-acabar de provas.
Depois, Yeslam e eu fomos de avião para Gidá com a minha irmã Salomé. A minha mãe e as minhas outras duas irmãs seguiram-nos dois dias mais tarde. Yeslam usava o traje saudita de algodão branco chamado tobe. Quando é bem feito, é bastante elegante, e eu achei-o ainda mais romântico com aquela roupa exótica. Uns minutos antes de aterrarmos, Salomé e eu pusemos os véus. Ficámos totalmente cobertas de espesso algodão negro: mãos, cabeça, corpo. Só os pés permaneceram de fora. Até os olhos estavam escondidos atrás do impenetrável pano preto. Olhei para a minha irmã e fiquei chocada. Ela não tinha cara.
Vi o deserto aproximar-se enquanto aterrávamos. A luz, através do pano preto, era fraca, e fiquei sem saber se aquele país seria o lugar mais escuro e vazio que alguma vez vira ou se era o pano que me impedia de ver o que existia lá fora. Aquilo deu-me uma estranha sensação opressiva, não era como quando experimentara a roupa em Genebra. Estava excitada. Afinal de contas, era o meu casamento. Mas senti-me invadida por uma melancolia, uma apreensão que condizia com a escuridão do mundo lá fora.
O calor era sufocante. Mal podia respirar debaixo da minha grossa abaya, e cada movimento era lento e difícil. Descemos a escada do avião, e a minha irmã tropeçou. A pequena mala com os produtos de beleza abriu-se e rebolou tudo pelo chão, mas ninguém a ajudou a levantar-se ou a apanhar os objectos caídos. Voltou-se para mim, um triângulo completamente negro, e perguntou:
- Que terra é esta?
Na Arábia Saudita, nenhum homem podia tocar-lhe ou mesmo aproximar-se demasiado.
Eu estava tão preocupada em manter o véu no seu lugar que não conseguia prestar atenção a outra coisa. Avistei Ibrahim, irmão de Yeslam, com a sua cara amigável e os olhos franzidos de riso, e exclamei:
- Olá, Ibrahim!
Fiquei aliviada por ver uma cara conhecida, mas ele não me respondeu. Parecia quase embaraçado. Por fim, muito baixinho, disse:
- Olá.
Não podia falar comigo em público.
Uns minutos depois de chegar à Arábia Saudita já cometera o meu primeiro erro grave. Comecei a perceber que no país de Yeslam, como mulher, eu ia ter de ficar calada em público.
Seguimos de carro, sem esperar pela bagagem. Algum lacaio sem nome trataria disso. Olhei pela janela e, através do véu, vi apenas uma luz difusa, nenhum edifício, nenhuma pessoa. Até as luzes da rua eram escuras.
Na realidade, muito pouco havia para ver. Gidá, naquele tempo, era uma pequena terra suja e velha, e o bairro onde vivia a maior parte dos Bin Laden ficava na estrada para Meca, mesmo à beira do deserto.
A estrada era irregular, depois melhorou e, de repente, estávamos em casa de Yeslam - o quilómetro sete na estrada de Meca. Vi o portão aberto e a minha sogra de pé à porta da casa.
Sempre chamámos Om Yeslam à minha sogra. É claro que tinha um nome, mas nunca era usado. Como a maior parte das mulheres, tomou o nome do filho mais velho. (Quando só tem filhas, a mulher saudita usa o nome da mais velha, até nascer um filho e o nome dele substituir o da irmã.)
Om Yeslam foi agradável e acolhedora. Senti um enorme alívio por poder tirar a abaya. De repente, a luz dentro de casa pareceu cegar-me. Havia tantos lustres acesos que foi como entrar numa loja de candeeiros. Sentámo-nos e fizemos conversa de circunstância. Depois dos primeiros cumprimentos, comecei a reparar no que me rodeava. Dentro daquela casa, parecia ser tudo verde: alcatifa verde-escura, papel verde nas paredes, sofás de veludo doirado-esverdeado encostados às quatro paredes da sala. Era muito estranho. E havia também flores de plástico. Quando fui lavar-me, descobri que o meu quarto tinha uma casa de banho de mármore castanho-escuro, sem janelas, como um túmulo. Não havia ricos tapetes antigos ou belos trabalhos artesanais. A casa era nova, deselegante, como uma recente casa de subúrbio.
Os criados entraram com a refeição da tarde. Estenderam uma toalha no chão e comemos ali: queijo lebna, mel, salada de pepino, pão sem fermento, iogurte e pasta de feijão. A falta de sofisticação surpreendeu-me. Imaginara uma exótica morada oriental, como nos filmes ou como a casa da minha avó no Irão. Afinal, o pai de Yeslam fora um dos homens mais ricos da Arábia Saudita. Mas aquilo era uma construção básica, mobilada com mau gosto, onde as pessoas viviam com muita simplicidade. Nem de longe se assemelhava à vida de requinte elegância que eu imaginara.
A minha sogra era uma mulher simpática e de voz agradável. Nunca se mostrou dura comigo, apesar de ter ficado certamente desapontada por o filho não escolher uma saudita para casar. A nossa conversa decorreu em parse e em inglês, salpicada com algumas traduções de Yeslam para árabe.
No dia seguinte, começou o corrupio das visitas. A família veio dar-me os parabéns e, mais importante ainda, examinar-me. Enfrentei um infindável desfile de mulheres - só mulheres -, todas com longos vestidos formais e carregadas de jóias. Eram dúzias delas, com nomes estranhos que tive dificuldade em fixar. Foi como uma mancha indistinta.
Eram quase todas parentes de Yeslam. O conceito abstracto de vinte e duas mulheres, vinte e cinco filhos e vinte e nove filhas começava a tomar forma diante dos meus olhos. Era desconcertante.
Salem, que eu já conhecera em Genebra, tinha na altura cerca de trinta anos, e era o filho mais velho, Yeslam o décimo e ninguém me disse qual era a ordem de nascimento das irmãs que apareciam umas atrás das outras. Parecia evidente que isso não interessava e eu nem sequer pensei em perguntar.
É claro que o xeque Mohamed, pai de Yeslam, não foi casado com todas as mulheres ao mesmo tempo. Divorciou-se de algumas para casar com outras. A maior parte das mulheres dele, efectivas ou divorciadas, e os respectivos filhos viviam dentro da enorme propriedade do xeque em Gidá enquanto Yeslam crescera.
Contudo, pouco antes de morrer, o xeque começou a construir uma série de novas casas, ao quilómetro sete da Estrada de Meca, fora da cidade. Muitos dos filhos mudaram-se para lá depois da sua morte e levaram consigo as mães. Era um bairro dos Bin Laden, de casas separadas, ao longo de três ruas isoladas à beira do deserto.
Nos primeiros dias, vivemos no quilómetro sete em quase hipnótica inactividade. A única coisa a fazer era receber a interminável corrente de visitas femininas com os seus vestidos formais e beber café árabe condimentado com cardamomo em minúsculas chávenas. Ao princípio, não sabia que devia sacudir a chávena para mostrar que não queria mais, de maneira que nunca bebi tanto café na minha vida! Por fim, exprimi a minha impossibilidade de continuar, e Om Yeslam explicou-me.
Só os homens podiam entrar e sair como quisessem. Nós, as mulheres, estávamos confinadas à casa, não só por causa do calor do Verão mas também não podíamos ser vistas sem véu por homens que não fossem da família.
Até para ir ao jardim, era preciso avisar os empregados masculinos, para que se afastassem. Quando a costa ficava livre, saíamos, geralmente ao crepúsculo, para uma autêntica fornalha. A areia do deserto à nossa volta cegava. Era como olhar para a neve alpina sem óculos de sol. O meu universo de livre circulação reduzira-se àquilo: seis mil metros quadrados de jardim cozido pelo sol com raras árvores nuas.
Não fazíamos exercício. Andar fosse para onde fosse era completamente impensável. De qualquer maneira, não havia para onde ir. Hotéis, estádios desportivos, teatros, piscinas ou restaurantes, se existiam, eram apenas para os homens. Nada de geladarias, parques ou lojas. Uma mulher de categoria quase nunca ia às compras. Nenhum homem, a não ser Yeslam, podia ver a minha cara. É verdade que ele me avisara de tudo aquilo antes de eu chegar, mas vivê-lo era muito diferente. Parecia irreal.
A vida de Om Yeslam estava completamente selada para homens que não fossem seus parentes. O seu motorista etíope nunca a viu sem véu, e nem sequer tenho a certeza se ele alguma vez lhe ouviu a voz. O seu moço de recados, de cerca de doze anos e também etíope, transmitia as ordens dela e dava instruções ao motorista.
Lembro-me do olhar de assombro trocado pela minha sogra e Fawzia, irmã de Yeslam, quando agradeci à criada pela primeira vez - por qualquer coisa trivial, como uma chávena de chá. Foi bastante estranho. E lembro-me também da surpresa e duma espécie de alegria que assomou à cara da jovem. A família da minha mãe tinha imensos criados no Irão, Mimo era normal, e até na Suíça havia uma governanta. Mas aquilo era outro mundo, um mundo com qualquer coisa de desagradável.
Mais tarde, visitaria muitas casas e espantaria muitas mulheres ao agradecer às suas criadas. Este desprezo pelos criados vinha chamar a atenção para o facto de a Arábia Saudita ter sido um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura.
Até ali, era vulgar as principais famílias terem escravos. O governo acabou por comprar-lhes a liberdade, por três vezes o preço de tabela para um ser humano. Quinze anos depois, quando cheguei à Arábia Saudita, os criados ainda não eram, no geral, considerados seres autónomos merecedores de agradecimentos.
Todos os gestos naquele bizarro mundo novo pareciam estranhos. As pessoas à minha volta eram inescrutáveis. Os homens não podiam olhar para mim, mesmo velada. A família era simpática, mas eu não conseguia ler fosse o que fosse nos seus olhos. Aquela monótona negação era quase etérea. Sentia-me hipnotizada. Em nada se parecia com o Irão ou com Beirute. Era outro planeta. Havia tantas coisas para absorver ao mesmo tempo, e eu não sabia o que havia de pensar delas. Descobri a cidade de Gidá à luz do dia quando fui à Embaixada da Suíça para registar o nosso casamento iminente, três dias depois de chegar ao país. (Se não registasse antes do casamento que queria manter a minha nacionalidade, perdia o passaporte suíço. Mais tarde, havia de abençoar aquele dia muitas vezes.) Era a primeira vez que saía de casa. O ar estava tão quente que mal podia respirar debaixo do espesso véu. Yeslam teve de me lembrar que devia sentar-me no banco de trás do carro, completamente coberta, enquanto ele guiava. Atravessei Gidá espreitando pelos vidros fumados do Mercedes e descobri um panorama doutro milénio. A Arábia Saudita estava ainda a emergir da esmagadora pobreza do seu modo de vida tradicional. As pessoas eram um pouco menos pobres desde a descoberta do petróleo na década de 1930, mas a louca bonança de riqueza que varreria o país depois do embargo do petróleo de 1973 ainda pertencia ao futuro. A Praça dos Burros era um cruzamento de carreiros de terra batida onde as pessoas iam comprar água a homens com burros carregados de barricas. Ondas de calor erguiam-se das poucas estradas alcatroadas. Vi uma ou duas lojas miseráveis. Espalhadas pelas dunas, ficavam as casas, invisíveis por detrás dos altos muros de cimento que protegiam as mulheres da vista.
Ao princípio, nem sequer reparei no que havia de tão estranho naquele país, mas acabei por perceber. Metade da população da Arábia Saudita é mantida constantemente atrás de muros. Era difícil compreender uma cidade quase sem mulheres. Senti-me uma espécie de fantasma, porque as mulheres não existiam naquele mundo de homens. E não havia parques, Flores ou árvores. Era um sítio sem cor. Tirando a areia, que cobria as estradas como um tapete poeirento, as únicas cores em que se reparava eram o preto e o branco: os tobes brancos dos homens e os raros triângulos pretos de mulheres embiocadas. Genebra estava a mil anos de distância.
Uns dias depois, Yeslam planeou uma ida ao mar Vermelho, para aliviar a nossa sensação de estarmos presas, mas a experiência não resultou. Ao contrário, só acentuou a estranheza da Arábia Saudita. As minhas irmãs e eu não trouxéramos fatos de banho. Começámos a discutir como e quando iríamos às compras, e mandaram chamar o motorista.
Uma mulher dos Bin Laden não ia às compras, porque os homens podiam vê-la. Portanto, mandou-se o motorista, com instruções transmitidas por intermédio do moço de recados. O motorista voltou, e o moço entregou-nos duas malas cheias de fatos de banho. Para muitas mulheres sauditas, nessa época, aquilo era fazer compras. Estarrecidas, fizemos a nossa escolha.
Estávamos prontas para a praia. Eu ia conhecer alguns dos irmãos mais velhos de Yeslam: Ornar, um homem conservador e devoto; Bakr, severo e amargo; e Mahrous, cada vez mais religioso, embora tivesse sido muito ocidentalizado, até mesmo uma espécie de playboy.
Os Bin Laden possuíam seis ou sete bangalós à beira-mar - na realidade, toscas cabinas duma divisão, com kitchenettes e um gerador comum. Os homens retiraram-se solenemente para uma cabina, enquanto as minhas irmãs e eu vestíamos os fatos de banho. Descemos do molhe de madeira por uma estrada ferrugenta, entrámos na água e nadámos. Ouvira dizer que o mar Vermelho era o paraíso do mergulho. A paisagem era bela e a água realmente do mais azul que alguma vez vi. Vestimo-nos de novo, e tomámos chá e bebemos Coca-Cola morna. Havia moscas por todo o lado. Fora feito um esforço para nos divertir, de maneira que fingimos estar divertidas. Mas depois Yeslam pediu-me que não fumasse diante dos irmãos. Era um pedido trivial, mas, com a tensão daqueles primeiros dias em Gidá senti-me invadida pela frustração. Parecia que não podia decidir os actos mais básicos da minha vida diária. Teria de negar todos os pormenores da minha personalidade na tentativa de me adaptar àquele país profundamente estrangeiro e constrangedor? Explodi:
- Não fumo, mas também não caso contigo!
Falei a sério. Era o fim.
Fiel à sua educação saudita, Yeslam evitou a discussão. Mais tarde, quando estávamos os dois a tomar chá juntos, estendeu-me casualmente um cigarro diante da família. Esse inesperado gesto de apoio deu-me esperança e desfez alguma da apreensão em relação ao futuro. Era uma pequena concessão, mas achei-a também simbólica. Com a ajuda e a compreensão de Yeslam, ia conseguir ser eu própria naquela incompreensível sociedade.
Fizemos outra excursão especial, a minha terceira saída da casa em dez dias. Om Yeslam e Fawzia, a irmã de Yeslam, levaram-nos ao suk do oiro. Parecia ser um dos pouquíssimos locais públicos aonde uma mulher Bin Laden alguma vez ia. Andar por entre uma multidão de mulheres sem cara, embiocadas de negro, era uma tarefa estranhamente difícil. Olhando em volta, percebi que não reconhecia a família, nem mesmo as minhas irmãs, de todos os outros triângulos pretos em movimento. A certa altura, tive de chamar Fawzia em voz alta para me orientar.
No suk, o oiro brilhava por todos os lados, de tal maneira que se distinguia mesmo através do pano preto que me tapava a cara. Entrámos numa loja minúscula, coberta do tecto ao chão de pulseiras, anéis e fios de oiro. O preço não dependia do trabalho, mas sim do peso. As jóias eram colocadas numa balança e o preço calculado com um ábaco. Enquanto escolhíamos, soou a chamada para a oração, e o vendedor saiu, deixando-nos simplesmente na loja.
Não podíamos orar num espaço público - éramos mulheres. Na Arábia Saudita, as mulheres estão proibidas até de entrar numa mesquita ou de rezar num local público - com excepção para a oração ritual necessária nas cidades santas de Meca e Medina. Mas os lojistas masculinos tinham de rezar juntos quando o muezim chamava. Portanto, deixaram-nos dentro da loja, numa sala cheia de ouro e com a porta nem sequer fechada à chave.
Na Arábia Saudita praticamente não há roubos. O castigo draconiano é um poderoso meio de intimidação: as mãos dos ladrões são simplesmente decepadas.
O dia em que casei foi o momento mais bizarro daquelas estranhas primeiras semanas. Yeslam e Ibrahim chegaram para me levar ao parque de estacionamento do edifício administrativo onde íamos registar o casamento. Fiquei no carro, com a minha abaya vestida, enquanto eles entraram. Os dois apareceram com um livro para eu assinar. Era o registo dos casamentos. Estava toda orgulhosa por ter aprendido a escrever o meu nome em caracteres árabes. Depois, alguém levou o livro para dentro, e ficámos casados.
Perdeu a habitual festa de noivado, a melka, onde Regaih assinara os seus documentos matrimoniais no meio dum enorme grupo de mulheres umas semanas antes, de maneira que o meu casamento se realizou num parque de estacionamento poeirento, eu envergando uma abaya preta. Da autorização do rei para um carro estacionado, o meu casamento acabara por ser tão diferente do que o que qualquer noiva podia imaginar que quase dava vontade de rir. Foi como se estivesse a ver outra pessoa casar-se. Tentei convencer-me de que não tinha importância.
A dupla celebração chegou dois dias depois. Fomos de carro até à casa de Salem, do outro lado da estrada, para nos prepararmos. (Muitos anos mais tarde, comecei a atravessar a estrada a pé - completamente velada, é claro. Uma acção tão ousada foi alvo de muitos comentários negativos entre as mulheres da minha família, que se mostraram chocadas com o facto.) Havia mulheres por todo o lado, atendidas por um exército de cabeleireiras. Eu quase não dormira nessa noite e estava com uma enorme dor de cabeça. Uma das minhas irmãs disse-me que as mulheres tinham passado o meu vestido de mão em mão, emitindo ruídos depreciativos, antes de mo trazer, suponho que por ser demasiado simples. Senti-me muito aborrecida por ser alvo de troça, e achei-as muito indelicadas.
Vesti-me, e o meu cabelo foi penteado num carrapito fora de moda. Sentia-me hirta, de tão nervosa que estava. Por cima do vestido de organza, enfiei o terrível chador preto. Metemo-nos no carro, nessa noite quente, e dirigimo-nos para o Hotel Candara, segundo julgo o único hotel de Gidá na época. No jardim do hotel, enfeitado com lâmpadas normais como improvisadas grinaldas de luzes, fora preparada uma zona separada para as mulheres, com biombos de juta para nos proteger dos olhares dos criados ou de algum convidado do sexo masculino que passasse.
Deparou-se-me uma enorme multidão de mulheres, só mulheres. A cerimónia dos homens desenrolava-se noutro sítio. Estavam ali talvez umas seiscentas mulheres, todas enfeitadas com jóias e folhos, como para um grande baile. Fomos recebidas com uma cacofonia de gritos ululantes. Os olhos delas observaram-me, enquanto Yeslam e eu nos aproximávamos do dossel.
Sentámo-nos, com Regaih e o noivo dela, sobre uma plataforma. Cada convidada aproximou-se de nós para ser cumprimentada. O bufete foi servido exclusivamente por mulheres. Uma orquestra também só de mulheres começou a tocar a monótona música árabe que, ao longo dos anos, acabei por apreciar. As mulheres dançaram as velhas danças beduínas, apesar dos seus formais vestidos ocidentais. São danças parecidas com a dança do ventre do Egipto, mas mais agitadas e sem as implicações lascivas. Ficámos sentados, debaixo do dossel, a ver as mulheres. Reparei que olhavam de lado para as minhas irmãs nos seus vestidos cor de salmão, e só nessa altura é que me apercebi que num casamento saudita não há damas de honor. Cada vez me doía mais a cabeça.
Toda a gente sorria. Em todos os anos que passei na Arábia Saudita, nunca senti qualquer hostilidade directa. Um saudita bem-educado nunca é abertamente grosseiro, excepto para com os criados. No entanto, sempre soube que me encontrava sob intensa observação. Eu e a minha maneira de viver eram tão estranhas para eles como eles para mim. Era estrangeira, criada no Ocidente, com a cara à vista de toda a gente, como uma prostituta qualquer, enquanto eles tinham nascido no país com os locais mais sagrados do islão, a pátria do profeta Maomé. Julgavam-se os guardiães desses lugares e o povo escolhido por Deus.
Via-os a observarem-me e senti-me atingida com grande impacte por todas as novas experiências estranhas e por vezes desagradáveis, daqueles primeiros dias na Arábia Saudita. Agora estava casada com um homem dum país que começava a perceber ser muito diferente do meu. Talvez todas as noivas perguntem a si próprias se fizeram a escolha certa, mas eu pensei se não devia ter feito a pergunta mais cedo. Sentada naquela plataforma, rodeada apenas de mulheres, senti-me oprimida por uma sensação de grande divisão entre duas civilizações: a do mundo donde eu vinha e a daquele em que acabava de entrar. A única coisa que me aliviava a inquietude e a impressão de estar confinada era saber que em breve voltaria para a abençoada normalidade da América. Nessa noite, noutro planeta, o presidente Nixon demitiu-se.
América
Aquela primeira visita surreal de três semanas devia ter-me prevenido de todas as dificuldades que me esperavam. Foi um presságio das décadas seguintes e iria mudar para sempre o curso da minha vida. Mas eu era nova e descuidada. Quando deixámos a Arábia Saudita, uns dias depois da celebração do casamento, senti-me como se tivesse fugido, e a sensação de névoa desapareceu rapidamente da minha cabeça. Amarrotei a abaya, enfiei-a num sítio qualquer, e foi como se nada tivesse acontecido: a nossa nova independência americana envolveu-nos de novo.
íamos às aulas, fazíamos compras para a nossa nova casa, comíamos fora e íamos ao cinema. Passávamos tempo com Mary Martha e a família dela, e dávamo-nos com outros amigos americanos, o que era óptimo para o incipiente negócio de Yeslam. Ele conseguiu arranjar um horário de modo a ir às aulas só dois dias por semana, e passava grande parte do tempo a explorar oportunidades no novo mundo dos computadores pessoais. Quanto a mim, aproveitava tudo aquilo que o estilo de vida americano podia oferecer-me. Era uma mulher casada, dona da minha vida, e podia fazer o que quisesse, pensava eu alegremente.
Aprendi a conduzir o carro desportivo de Yeslam e depois ele comprou-me um Pontiac Firebird. Tal como o meu marido, adorava guiar, guiar sem destino, quando me sentia impaciente. Mais tarde, Yeslam comprou um pequeno avião mono-motor Mooney e convenceu-me a ter lições de pilotagem. Aos fins-de-semana, pilotávamo-lo juntos até Santa Bárbara, e outras vezes até Las Vegas.
Uma ocasião, Yeslam ganhou imenso dinheiro num casino e comprou-me uma estola de visom branco. Ele não era realmente o que se chama jogador, mas achava graça, de vez em quando. Comprou-me também jóias. E eu adorava as atenções e o romance tanto como os presentes em si.
Julgo que o meu marido era feliz nessa altura. Mais feliz com certeza do que fora durante a sua infância solitária em colégios internos, longe de casa, e talvez mais feliz do que alguma outra vez havia de ser. Líamos livros juntos e conversávamos até altas horas da noite sobre os estudos dele e os seus primeiros passos nos negócios, ouvindo a música clássica que ele adorava, tão alto quanto nos apetecia. Yeslam comprou um dos primeiros computadores pessoais; sentia a existência dum vasto potencial para investimento e oportunidades de negócio nesse campo. Conheceu um homem chamado Steve Jobs, que estava a fazer qualquer coisa nova e ousada com computadores na sua garagem. Tudo aquilo era muito excitante para nós. Compartilhávamos, naquela novíssima América, tudo o que tínhamos liberdade para descobrir. Sentíamo-nos tontos com aquele mundo sem limites.
Ibrahim foi viver connosco e começou a frequentar a universidade, mas era tão negligente com os estudos que não tenho a certeza se chegou a formar-se. Essa maneira de ser tornou Yeslam, tão inteligente e sério, ainda mais atraente aos meus olhos. Alguns dos outros irmãos do meu marido começaram também a visitar-nos sempre que saíam do seu país, e nós levávamo-los à Disneylândia, a Las Vegas, a festas. Eu andava de calças de ganga e de ténis, eles de calças apertadas, camisas desabotoadas e cabelo tipo carapinha. Pareciam mesmo americanos... por fora.
De vez em quando, a Arábia Saudita ficava de novo em foco. Mafouz, sobrinho e irmão de leite de Yeslam, visitou-nos. A mãe dele, Aisha, era a filha mais velha do xeque Mohamed v dera à luz Mafouz exactamente quando a mãe de Yeslam tinha o seu primeiro filho. Aisha e Om Yeslam amamentaram o filho uma da outra, segundo um costume do seu país que, no entanto, não pode ser seguido se as crianças forem um rapaz e uma rapariga, porque isso significaria que nunca poderiam casar. Ser irmão colaço cria uma ligação especial.
Mafouz era profundamente devoto. Na Arábia Saudita, usava o tobe curto para exibir a sua simplicidade, na época sinal dum homem religioso. Foi a sua primeira visita ao estrangeiro, Yeslam levou-o a dar uma volta no pequeno avião, com a minha irmã Salomé. Mafouz passou o tempo todo encolhido a um canto. Os lugares eram juntos, e ele sentiu-se fisicamente repelido por estar sentado ao lado duma mulher que não era da sua família. E ainda ficou pior quando Salomé anunciou que não se sentia bem. Pobre Mafouz.
Em Novembro, descobri que estava grávida, da maneira tradicional: mandei Yeslam à rua buscar tacos não sei quantas vezes numa manhã de domingo, e comi até vomitar. (Nunca mais consegui engolir um taco) Fiquei surpreendida por ser suficientemente adulta para estar à espera dum bebé, e passei toda a gravidez enjoada. Yeslam ficou contente, claro, e sorriu quando lhe dei a notícia, puxando pela barbicha, mas não me pareceu tão encantado como eu esperava. Não ficou delirante de alegria e nunca me acariciou a barriga ou demonstrou espanto quando o bebé me dava pontapés.
Queríamos um filho e ambos sabíamos disso. Numa casa de mulheres, eu e as minhas irmãs sempre fôramos reprimidas em crianças. Muitas vezes desejei ter um irmão, porque me parecia que ele teria mais liberdade e podia influenciar a minha mãe a ser menos severa. Evidentemente que Yeslam queria um filho homem, sendo saudita: tão simples como isso. Talvez devido à minha ascendência iraniana, era uma coisa que eu compreendia sem precisar que ma dissessem.
Fui obrigada a deixar as aulas, por ordem do médico, e a descansar durante a maior parte da gravidez. Um amigo meu americano, Billy, fez-me uma visita. Conhecera-o em Genebra e sempre fôramos íntimos. Fiquei encantada, sobretudo porque estava farta de ficar em casa inactiva. O meu ventre inchado foi uma grande novidade e o principal assunto das conversas. Disse-lhe que esperávamos que fosse rapaz, mas ele respondeu:
- Pois eu espero que seja rapariga e igualzinha a ti. Era fantástico!
Nesse momento, olhei para Yeslam, a sorrir. Mas a expressão dele tornara-se sombria. Olhava para Billy, não de cenho franzido, mas imóvel e calado. Billy despediu-se logo a seguir. Voltou a nossa casa, mas Yeslam conseguiu transmitir-lhe sem uma palavra que já não era bem-vindo.
Ao princípio, a pessoa não percebe que está a transformar-se num objecto de alguém. Conhecemos um homem e os dois tornamo-nos uma só pessoa, moldamos os gostos e as personalidades até sentirmos que somos invencíveis. Começamos a abafar as discórdias, até que, lentamente, a nossa personalidade se submerge no desejo de agradar. Perdemo-nos dentro do outro, mais ainda se somos de culturas diferentes, como no nosso caso. Além disso, a gravidez tornou-me vulnerável, para não falar da minha juventude. Aconteceu tão gradualmente que nem sequer o senti, a minha personalidade começou a ceder a Yeslam.
Mary Martha foi a minha tábua de salvação naqueles longos meses de gravidez. Estive sempre enjoada, de tal maneira que nem conseguia entrar no carro. Mary Martha ajudou Yeslam a procurar uma casa maior, em Pacific Palisades. Acompanhou-me para comprar o berço e roupa para o bebé, e foi comigo às aulas de Lamaze, deixando-me falar sem parar do rapazinho com que eu sonhava.
Um dia, ela estava a organizar um grande almoço de caridade e não conseguia a ajuda necessária, de maneira que eu reuni os Bin Laden: Ibrahim, com o seu enorme cabelo tipo carapinha, para servir à mesa; Yeslam, para receber o dinheiro à porta; e eu, no meu caro vestido de seda de grávida, lavei a loiça. À saída, uma matrona conservadora da Califórnia chamou Mary Martha de parte:
- Você arranjou umas pessoas realmente diferentes para ajudarem. Onde é que foi desencantá-las?
- Deixe lá, você não podia pagar-lhes - segredou-lhe Mary Martha.
Depois, na cozinha, fartámo-nos de rir com aquilo.
A família de Mary Martha adoptou-nos, e eu passei a ter uma família americana. Quando os pais dele vinham do Arizona, íamos sempre vê-los. O pai, Les Berkley, era dono duma grande exploração agrícola de alfaces, e um homem alto e forte, do género John Wayne. A mãe era uma mulher graciosa e inteligente, firme republicana, com um profundo sentido de honra. Conversámos sobre a política e a constituição americanas e sobre a família. Costumávamos fazer os testes das Selecções juntas. Para ela, era uma distracção; para mim, um treino essencial.
Havia um amor imenso na família de Mary Martha, bem como um sentimento de respeito mútuo, completamente novo para mim. Enquanto cresci em casa da minha mãe, na Suíça, habituei-me a obedecer implicitamente aos mais velhos, apenas por serem mais velhos. Devia obediência e respeito automáticos à idade e à autoridade. Mas, na família de Mary Martha, existia uma profunda aceitação de todos os seus membros. Possuíam excelentes maneiras, mas eram também livres para falar como queriam, livres para discordar.
Estar com os Berkley era uma calorosa e bem-vinda experiência. Naquela família, cada indivíduo era respeitado, fosse qual fosse a sua idade. Até a opinião duma criança era escutada e cuidadosamente registada. A delicadeza deles não era formal, mas sim atenciosa. Foi isso que eu levei comigo mais tarde para a Arábia Saudita e tentei criar as minhas filhas nesse espírito. Todos os dias me sentia mais presa aos valores daquela cultura nova e livre, a da América.
Numa manhã de Março de 1975, Yeslam acordou-me com a notícia de que o rei Faiçal acabava de ser assassinado a tiro por um dos seus próprios sobrinhos. Percebi que estava em pânico, e que a Arábia Saudita se encontrava em tumulto. Dizia-se que o assassino era uma pessoa perturbada, mas Yeslam garantiu-me que se tratava mais provavelmente duma vingança. O irmão do assassino fora executado dez anos antes por participar numa revolta fundamentalista islâmica contra a decisão real de autorizar a televisão no reino.
Yeslam começava a sentir cada vez mais necessidade de voltar para o seu país e participar nos negócios da família. Acelerou os estudos, para poder formar-se mais cedo.
Eu, entretanto, dei à luz: o momento mais importante da minha vida e um dos que havia de me modificar para sempre. Mary Martha esteve comigo, porque senti que o meu marido não suportaria os pormenores mais desagradáveis. O bebé era uma menina.
Muito depois, soube que Yeslam se limitara a sair, assim que soubera qual era o sexo do bebé, dera meia volta e abandonara o hospital. Mas, na altura, exausta, instalada no quarto e com o meu novo bebé ao lado, soube que o meu marido estivera no hospital. Supus que se sentisse ligeiramente desapontado, mas estava certa de que se habituaria à ideia.
Era preciso escolher um nome. Estava decidido um nome masculino, Faiçal, mas nunca escolhêramos um feminino. Por fim, Yeslam resolveu que se chamaria Wafah, a fiel.
Ter uma rapariga foi uma surpresa para mim, e que bela surpresa acabou por ser. Wafah era linda, realmente muito mais bonita do que o habitual à nascença. Olhando para ela, era impossível sentir-me desapontada. Fiquei inundada de fascínio e amor. Mas Yeslam mostrava-se por vezes petulante, quase como se tivesse ciúmes do poder da pequena Wafah sobre mim. Embora proveniente duma grande família, prestava muito menos atenção à filha do que eu. Parecia feliz quando eu lhe falava das coisas novas que ela fazia - como chuchar no dedo grande do pé ou pegar em brinquedos -, mas precisava sempre de lhe chamar a atenção para elas.
Pouco depois do nascimento de Wafah, Mary Martha levou-me às compras. Pensei que seria bom para Yeslam estabelecer um laço com a filha. Como ela ainda era amamentada de duas em duas horas, fizemos as compras a correr. Quando voltámos para casa, Yeslam estendeu-ma, como se fosse um embrulho:
- Está molhada - disse ele. - Muda-a.
Que tonto, pensei eu. Não lhe ocorreria a ideia de mudá-la ele mesmo? Senti uma grande ternura por ele. A sua incompetência ainda me fez sentir mais confiante e segura no meu novo papel de mãe.
Para mim, Wafah era um milagre. Pela primeira vez na vida me sentia completamente responsável por outro ser humano. Como todas as novas mães, prometi a mim própria não repetir os erros da minha mãe. Respeitaria o feitio do meu bebé e deixá-lo-ia crescer para se tornar a pessoa que já existia dentro daquele corpinho perfeito.
Não quis contratar uma ama, embora já tivéssemos uma criada para fazer a limpeza da casa e cozinhar. Eu é que acordava para a amamentar de noite, apesar dos resmungos de Yeslam. De dia, instalava-a a meu lado e falava constantemen te com ela. E ela devolvia-me o olhar, como se compreendesse cada palavra.
Gostava realmente de passear o meu bebé no seu novo carrinho americano, de brincar com ele à luz do Sol, de cheirar o maravilhoso aroma de bebé no seu pescocinho. Era teimosa, a minha pequenina, com um feitio ferozmente decidido. Quando a desmamei, durante meses recusou qualquer alimento que não fossem os boiões de peru com arroz Gerber, e nem a excelente comida caseira de Mary Martha a tentava.
Enchi a casa de música - Cat Stevens, Shirley Bassey, Charles Aznavour, Jacques Brel - e dançava com a minha adorada garotinha à volta da sala. Habituou-se a adormecer ao som de Tchaikovsky na aparelhagem do seu quartinho, rodeada por uma autêntica loja de brinquedos. Nada era demasiado bom para a minha Wafah.
Nunca voltei à faculdade, embora vivesse com Yeslam todos os exames, à medida que ele avançava em tempo acelerado nos seus estudos. O meu marido tinha uma mente rápida e incisiva. Adorava a inteligência dele, a sua disciplina, a sua rápida compreensão de factos complexos. Conforme se aproximava o dia da formatura, os planos para nos levar de volta para a Arábia Saudita tornavam-se mais prementes. Após o embargo do petróleo em 1973, quando o preço do crude subiu de três para doze dólares no espaço de poucos meses, o dinheiro entrava na Arábia Saudita às catadupas. Yeslam apercebeu-se das novas oportunidades comerciais e quis fazer parte delas. Disse-me que seria bom para a nossa nova família. Eu sabia que aquilo significaria renunciar à minha esperança de voltar a estudar. Aliás, renunciar a muitas coisas, mas, embalada pela confortável alegria duma vida com a minha adorada Wafah e o meu inteligente e belo marido, concordei.
A vida com os Bin Laden
Mudámo-nos para Gidá no Outono de 1976. Dessa vez, ao chegar ao aeroporto, eu usava uma adequada abaya de seda fina para cobrir a cabeça, os olhos, as mãos, cada centímetro do corpo. Mas, quando me tapei com aquele tecido impenetrável, o sentimento pesado que esquecera voltou, mais forte ainda. Não sairia dali dentro de duas semanas e não se tratava dum véu que um dia podia fazer numa bola e esquecer no canto dum armário. Aquela abaya acompanhar-me-ia para todo o lado. Naquele país novo e estranho, a abaya simbolizaria .1 minha vida.
Durante anos, a primeira coisa que as pessoas me perguntavam quando viajava para o estrangeiro era:
- Você usa véu?
E, quando respondia que sim, achava graça à expressão de espanto e horror com que ficavam. Ê claro que, em termos práticos, o véu era um empecilho, além dum insulto à minha inteligência e à minha liberdade. Mas nunca fiz dele um grande drama. Para disfarçar o que sentia, nesses primeiros tempos, decidi aceitar a explicação saudita de que a abaya simbolizava respeito pelas mulheres. Mais fundamentalmente, estava convencida de que o seu uso seria temporário.
Sou optimista por natureza. Gidá estava em pleno desenvolvimento, e os estrangeiros chegavam constantemente ao país. O ameaçador vazio do deserto em volta de Gidá depressa daria lugar a longas estradas e brilhantes arranha-céus. Presumi que a sociedade saudita avançaria para o mundo moderno, como acontecera noutras culturas.
Em breve, pensei eu, como no Irão, o véu seria uma coisa que as mulheres decidiriam ou não usar. Em breve, muito naturalmente, poderíamos andar pelas ruas, ou ir de carro aonde quiséssemos. Faríamos compras sozinhas, nas lojas que iriam surgir. E trabalharíamos fora de casa, se desejássemos.
Entretanto, precisava de me ajustar à minha nova vida e tentar tornar-me uma boa esposa e mãe saudita. Instalámo-nos em casa de Om Yeslam, onde vivia a irmã mais nova do meu marido, Fawzia. Eu compartilhava o motorista sudanês da minha sogra, Abdou, e contratámos outra criada etíope.
Tentei ajustar-me. Fui aprendendo o árabe básico e absorvi-me na maternidade, nas suas primeiras fases: o nascer dos dentes, os primeiros passos. Fora disso, nada na minha nova vida me parecia natural.
O mais estranho de tudo era ser envolvida pela vida calma e sem pressa de Om Yeslam, pelo seu mundo feminino. Era como ficar anestesiada. A minha sogra era boa senhora, mas os seus únicos interesses eram a cozinha e o Alcorão. Rezava cinco vezes por dia, e vivia num mundo fortemente rodeado por uma invisível jaula de tradição.
A palavra árabe para mulher, hormah, vem da palavra haram: tabu; e cada momento da vida de Om Yeslam estava entrelaçado na observância dos rituais e regras dos costumes islâmicos. Tudo parecia ser haran, ou pecado. E, se não era pecado, era abe, vergonhoso. Era haram ouvir música, abe andar pelas ruas, abe dirigir a palavra a um criado homem, haram ser vista por um homem que não fosse da família. Om Yeslam era uma mulher tolerante, e a sua cara impassível e calma raramente se franzia, mas eu percebia a sua desaprovação pela surpresa sempre manifestada com delicadeza.
Era, evidentemente, quase sempre haram e abe para uma mulher Bin Laden sair de casa. As nossas caras nunca podiam ser vistas por um homem fora da família. Se saíamos de casa, era para nos levarem de carro a um lugar específico, num carro guiado por um homem. Foram precisos meses para eu compreender a planta do bairro.
As compras eram para os criados. Se precisávamos de alguma coisa, Abdou ou outro motorista recebia indicações dum criado quanto ao artigo a procurar. E não se tratava apenas de fatos de banho. Era chá ou pensos higiénicos... Absolutamente tudo. Se não gostávamos do que nos traziam, voltavam com outra mala cheia. Escolhíamos qualquer coisa, o resto era devolvido às lojas, onde se informavam do preço e vinham a casa buscar o dinheiro.
Essas fantochadas punham-me doida.
O sistema que prendia as mulheres numa rede de impedimentos tornava cada gesto elementar da minha vida incrivelmente complexo. Wafah estava habituada a tomar leite em pó Similac. Embora tivesse levado uma boa quantidade, o leite estava a acabar. Preocupava-me a possibilidade de uma alergia a outras marcas e sentia que ela ia ficando com pouca energia, embora talvez fosse só devido ao calor. Mas estava determinada a encontrar Similac para ela. Mandei Abdou à rua à procura, mas ele voltou várias vezes com um leite que eu não conhecia.
O leite em pó tornou-se uma obsessão para mim. Não conseguia imaginar que houvesse só duas qualidades em todo o país. Uma noite, disse a Yeslam que ele tinha absolutamente de me deixar ir ver com os meus olhos. Consentiu.
Ia a uma loja! Que passo em frente! Rejubilei. Abdou e Yeslam levaram-me lá no carro, coberta dos pés à cabeça pela abaya. Yeslam pediu-me que esperasse no carro, e desapareceu durante um bocado. Por fim, dez minutos depois, conduziu-me à entrada.
Passei por uma fila de cerca de doze homens parados fora da porta, hirtos e voltados de costas para mim. Assim que entrei, as minhas esperanças desvaneceram-se. A loja era uma construção pré-fabricada, sem janelas, poeirenta e cheia de caixas de cartão, por sua vez cheias de latas. Cheirava como se fosse um armazém. Até encontrar leite era difícil, porque estava tudo dentro de caixas sem rótulos. Quase não havia por onde escolher e certamente nada de Similac. E, para que uma mulher completamente embiocada de preto pudesse entrar ali com o marido, a loja fora esvaziada, completamente esvaziada d
e todos os clientes e pessoal.
Que diabo receariam eles? Contaminação? Duma única mulher, cuja cara e corpo nem sequer podiam ver? Seria realmente sinal de delicadeza e respeito aqueles homens voltarem-me as costas por eu ser mulher? Fiquei furiosa. Umas semanas antes, percorrera apressadamente um supermercado bem iluminado na Califórnia escolhendo frutos frescos e cereais para a minha família. Voltei para casa com um amargo nó de desesperadas saudades na boca do estômago, sentindo que entrara num estranho universo paralelo.
Precisava de actividade. Precisava de ler. Ansiava por algum estímulo para o espírito e para o corpo. Os dois canais de televisão transmitiam um imã a entoar o Alcorão todo o dia; para amenizar, garotinhos de seis ou sete anos, detentores de prémios pelo seu conhecimento do Alcorão, recitavam de memória os textos sagrados. Os jornais estrangeiros eram transformados em fragmentos por um marcador mágico: qualquer comentário sobre a Arábia Saudita ou Israel, qualquer fotografia ou anúncio que mostrasse um centímetro sequer dos membros ou do pescoço duma mulher era pintado de preto pela censura. Eu costumava pô-los em contraluz, para tentar adivinhar as palavras tapadas pelo marcador do censor.
Não havia livros, nem teatros, nem cinemas, nem concertos. Não havia motivo para sair de casa e, de qualquer maneira, não podíamos sair. Não me era permitido andar a pé e, legalmente, não podia guiar. Por muito que adorasse a maternidade, tratar de Wafah não era o suficiente para me preencher os dias e o espírito.
Precisava de sair de casa. Disse a Yeslam que estava desesperada, e ele compreendeu. Propôs-me uma viagem de três dias a Genebra para comprar livros e leite para Wafah, para além de me mitigar as saudades. Como acontecia frequentemente durante os primeiros tempos, sempre que acabava por me queixar, Yeslam arranjava maneira de me acalmar. E eu renascia: o meu marido estava do meu lado.
Em Genebra, a minha família pareceu-me incrivelmente diferente. Olhava para todos com um novo olhar. De repente, aquilo que eu tomara por certo toda a vida parecia maravilhoso. Apenas a cinco horas da terra castanha, seca e vazia em volta do aeroporto de Gidá, ali estava uma complexa paisagem
cheia de vida, com tantas casas e pessoas, tantos campos e jardins coloridos. Dei comigo a olhar embasbacada para as montanhas cinzento-azuladas, tentando memorizar cada pico, cada cordilheira. Até as árvores no jardim da minha mãe me pareciam poderosamente significativas. Não me cansava de olhar para as formas e as cores das vermelhas folhas outonais, fixando-as no cérebro. Era como se visse tudo aquilo pela primeira vez.
Comprei pilhas de livros e de artigos de primeira necessidade. E depois preparei-me para voltar.
Durante o nosso primeiro ano na Arábia Saudita, Yeslam viajou muitas vezes ao serviço da empresa familiar. Ia sobretudo a Dammam, um porto em rápido desenvolvimento na costa oriental, construído para servir a indústria petrolífera. Ficar sozinha em Gidá aos dois e três dias de cada vez, com Om Yeslam e Fawzia como únicas companhias adultas, punha-me doida de aborrecimento... com ou sem a minha reserva de livros.
Passava a maior parte dos dias só com Om Yeslam. Fawzia ia às aulas na faculdade - estudava Gestão Empresarial -, mas numa faculdade inimaginável para mim. As «aulas» dela eram na realidade sessões de vídeo para verem lições dadas por professores que, sendo homens, não podiam ensinar directamente numa sala de aula estritamente segregada, só de mulheres. Havia uma biblioteca, mas as alunas tinham de pedir os livros por escrito e recebiam-nos dum gabinete especial para mulheres uma semana mais tarde. Nunca vi a minha cunhada ler um livro ou falar dos seus estudos.
Sentia-me mergulhar na lassitude, aborrecida e sem objectivo, como um peixinho-vermelho a nadar cada vez com maior lentidão num aquário asséptico e ansiando por horizontes mais vastos.
O calor esmagava-nos todas até à submissão. Durante o dia, nunca deixávamos a casa com ar condicionado. Dar um passo para o jardim ao entardecer era como entrar numa fornalha. A primeira vez que vi a minha sogra animada foi quando choveu. Uma manhã, acordámos sob um céu cinzento, e toda a gente a falar com grande excitação da chuva que ia cair. Assim que caíram as primeiras gotas, Om Yeslam e Fawzia foram para o jardim.
- Está a chover, está a chover - gritavam elas. – Anda ver!
Eu sabia como era a chuva. Por fim, havia alguma coisa que conhecia perfeitamente, mas fui lá para fora para lhes fazer a vontade. A areia molhada cheirava mal, mas não fazia mal: estava a chover e isso deixava-os felizes. O jardim ficou inundado, com cerca de trinta centímetros de água a lamber os muros de cimento. Durante dois dias, a areia esteve verde, como se até o deserto se mostrasse agradecido.
Mais tarde, também eu ia a correr lá para fora quando chovia, alegre perante uma ligeira mudança na rotina da minha vida.
As tempestades de areia eram menos agradáveis. A areia levantada picava como agulhas a rodopiar no vento cortante. O céu ficava escuro, por vezes durante dias seguidos, e as nuvens de areia entravam pelas portas e janelas fechadas, metendo-se na roupa, nos sapatos e na comida. Era desconfortável e assustador, e o barulho perfeitamente sinistro. Nunca consegui acostumar-me àquilo.
No fim, o jardineiro varria a areia de volta para o deserto, num gesto fútil que sempre me deu que pensar. Estávamos a viver num sítio que nunca fora destinado a ser habitado por seres humanos. Embora Gidá se situe junto ao mar - é um importante porto -, o deserto está sempre presente, cruel e selvagem, invadindo constantemente a vida. Não possui sequer um rio, qualquer verdura natural ou cores suaves.
O deserto da Arábia Saudita é belo, de certo modo, e as dunas ondulantes, a espantosa luz e o vasto horizonte sempre me fizeram pensar num oceano. Mas é imenso e monótono, além de completamente vazio. Um reino esculpido no deserto é um lugar desabrido, medonho. Até ao século xix, nenhum europeu pusera os pés no vasto e isolado deserto que é a Arábia Saudita. Fisicamente, é talvez o país mais inóspito do nosso planeta.
O patriarca
Socialmente, a Arábia Saudita é medieval, sombria, com pecado e interdição. A versão saudita do islão - vaabismo - é feroz na sua imposição dum antiquado código social. Não é uma cultura complexa e intelectual como a do Irão ou a do Egipto. O reino não tinha ainda cinquenta anos de existência quando lá cheguei, e estava - está - muito perto das suas primitivas tradições tribais.
A Arábia Saudita pode ser rica, mas é provavelmente o país menos culto do rico e multifacetado mundo árabe, com a mais simplista e brutal concepção das relações sociais. As famílias são chefiadas por patriarcas, a quem a obediência é absoluta. Os únicos valores que contam na Arábia Saudita são a lealdade e a submissão, primeiro ao islão e depois ao clã.
O pai de Yeslam, o xeque Mohamed, foi em muitos aspectos o arquétipo do patriarca saudita, apesar de ter de facto nascido no vizinho Iémen. A sua personalidade era notável e a sua vontade lei. Mohamed era um pobre operário que chegou à Arábia Saudita na década de 1930. Apesar de não saber ler ou escrever, possuía cabeça para os números. Devoto, honesto e escrupuloso, muito respeitado por quem trabalhava com ele, formou uma companhia que acabou por se tornar um dos maiores grupos de construção do Médio Oriente antes mesmo da sua morte num desastre de avião em 1967, com a idade de cinquenta e nove anos.
A relação do xeque Mohamed com a família real saudita datava dos tempos em que o rei Abd el-Aziz, fundador do reino estava ainda no trono. Segundo uma lenda da família Bin Laden, o rei adoentado não conseguia subir a escada dum dos seus palácios, mas a equipa do xeque Mohamed projectou e instalou uma rampa especial para ele poder ser conduzido de automóvel directamente até ao primeiro andar.
Noutra história da família, o xeque Mohamed apresentou um orçamento drasticamente inferior ao duma companhia italiana que ia construir a estrada de Gidá até Taef, nas colinas, onde o rei Abd el-Aziz muitas vezes passava os meses de Verão Mohamed seguiu uma mula que fazia essa viagem, desenhou um mapa do rasto do animal, e utilizou-o para construir a estrada.
O pai de Yeslam era um homem generoso, dado a grandes gestos de abundância. Uma vez, segundo me contaram quando o esbanjador rei Saud estava no trono, o xeque Mohamed pagou do seu bolso os salários dos funcionários públicos para salvar o reino dum embaraço financeiro. Outra vez, um grupo de pobres indonésios em peregrinação a Meca foi abandonado pelo guia sem dinheiro e sem os bilhetes de volta. Foram pedir trabalho ao xeque Mohamed - o maior empregador da região - para poder ganhar o suficiente para pagar os bilhetes de avião do regresso, e ele, com toda a simplicidade, deu-lhes o dinheiro.
O xeque Mohamed era esperto e valente. Trabalhava muitas vezes ao lado dos seus operários porque, ao contrário da maioria dos sauditas ricos, não era avesso ao trabalho manual. Suportava de boa vontade situações extremas. Embora não faça ideia da veracidade da história, Yeslam contou-me que uma vez, durante a guerra entre o Egipto e o Iémen na década de 1950, o xeque Mohamed e os seus homens trabalharam sob tiroteio da Força Aérea egípcia para terminar a construção duma base aérea numa região vizinha da Arábia Saudita.
Isto era a vida numa escala espectacularmente grandiosa. E o xeque Mohamed levava esse sentido do espectáculo também para a sua vida familiar. O islão permite que um homem case com quatro mulheres, e a maior parte dos sauditas contenta-se com desposar uma ou duas, quatro no máximo. Mas, tal como alguns dos príncipes reais, o xeque Mohamed aumentou o seu exército de esposas divorciando-se das mais velhas e casando com mais novas, sempre que lhe apetecia. Quando morreu, acumulara vinte e duas - vinte e uma das quais ainda vivas. Após anos a viver na Arábia Saudita, soube por um dos seus empregados mais fiéis que, na noite em que morreu, o xeque estivera a planear casar com uma vigésima terceira mulher. Ia ao encontro dela quando o seu avião particular se despenhou no deserto.
O xeque Mohamed nunca chegou realmente a viver no quilómetro sete. Vivia com a maioria das esposas e filhos num enorme complexo em Gidá, e mantinha moradas mais pequenas em Riade, a capital, e noutros locais. A esposa favorita de Mohamed, Om Haidar, vivia com ele na casa grande em Gidá, segundo Yeslam me contou, e ele visitava as outras num sistema rotativo nas casas mais pequenas espalhadas dentro dos altos muros do complexo. A preparação da comida e os cuidados com as crianças eram mais ou menos colectivos, por afinidade entre as esposas, e as do momento ocupavam uma posição superior à das divorciadas.
O xeque Mohamed teve cinquenta e quatro filhos. Eu costumava brincar com Yeslam, dizendo que o pai dele estivera em competição com o rei Saud, que gerara mais de cem, o que não era totalmente brincadeira, já que mesmo na Arábia Saudita um clã tão vasto era uma raridade.
Todos os filhos do xeque Mohamed iriam para sempre viver à sombra gigantesca do pai. Para eles, o pai era um herói, uma figura distante e fabulosa, severa e profundamente devota. Os filhos mais novos raramente o viam. De tempos a tempos, contou-me Yeslam, ele e os irmãos apresentavam-se na casa grande para uma inspecção. O temível pai perguntava-lhes se costumavam rezar ou mandava-os recitar o Alcorão, recompensando-os com uma moeda ou uma palmadinha.
A figura do xeque Mohamed fascinava-me. Um homem pobre e analfabeto duma das regiões mais pobres da terra - Hadramat, no Iémen - emigrara para a Arábia Saudita, um país despido de quaisquer elementos de civilização moderna, tornando-se um dos homens mais poderosos na recente economia do reino. O xeque Mohamed veio a ser uma espécie de barão nesse regime medieval, o maior empregador do país, digno da amizade e da confiança de reis. Por quaisquer padrões e em qualquer cultura, o xeque Mohamed teria sido considerado um génio.
Infelizmente, nenhum dos filhos lhe chegou aos calcanhares. Yeslam foi o que mais se aproximou, devido à sua viva inteligência, mas era medroso e deixava-se invadir pelo pânico, nunca atingindo a estatura ou a visão estratégica do pai. Salem deixou a organização estagnar, Bakr não possuía visão, era vulgar. E Osama? Embora tenha certamente tornado o nome Bin Laden famoso no mundo inteiro, prefiro acreditar que o pai não teria aprovado a maneira como o fez.
Uma vez, segundo Yeslam, Tabet foi apanhado a mentir, e o pai bateu-lhe. Outra vez, o xeque levou um dos filhos mais velhos a visitar o rei Faiçal. O rei convidou a criança a sentar-se a seu lado no salão de recepção - insistindo e indicando-lhe o lugar que devia ocupar -, mas Mohamed recusou. Disse não ao rei.
Enquanto foi vivo, os filhos nunca lhe desobedeceram nem se envolveram em disputas uns com os outros. A linha de autoridade era clara: a palavra do xeque Mohamed era lei.
O xeque era um belo homem enérgico. Ainda tenho um imponente retrato dele na minha sala. Com o seu traje saudita e de óculos escuros, emite bravata, força e inteligência. Os filhos viviam intimidados por ele, e as mulheres também. Aliás, raramente encontrei uma mulher saudita que não tivesse medo do marido. O xeque Mohamed não era violento, mas detinha um poder total sobre as esposas. Podia negligenciá-las ou, pior, divorciar-se delas. E elas viviam confinadas, completamente dependentes dele.
Uma esposa na Arábia Saudita nada pode fazer sem licença do marido. Não pode sair, não pode estudar e, muitas vezes, nem sequer pode comer à sua mesa. As mulheres na Arábia Saudita têm de viver em obediência, em isolamento e no receio de virem a ser banidas e sumariamente divorciadas.
Quando cheguei à Arábia Saudita, a mãe de Haidar, a esposa favorita, ainda vivia perto do quilómetro sete. Era uma mulher bonita e uma eficiente organizadora. Com ela, garantiu-me Yeslam, a casa funcionava perfeitamente e o pai podia descontrair-se. Om Haider era mais sofisticada do que algumas das outras mulheres de Mohamed. Era síria, e possuía grande aprumo. Sorria suavemente, a sua voz era melodiosa, e penso que Om Yeslam tentava conscientemente parecer-se com ela.
Mas Om Haider não era a chefe do clã. Todas as mulheres do meu sogro pareciam manter relações de perfeita harmonia umas com as outras, embora algumas vivessem em Riade e em Meca e diversas das nascidas no estrangeiro - as do Líbano, do Egipto ou da Etiópia - andassem para trás e para diante entre as suas pátrias e Gidá, onde viviam os filhos. Até Salem, o irmão mais velho, não parecia emitir ordens ou decisões, embora fosse reconhecido como chefe do clã e muitas das minhas cunhadas - principalmente as que não tinham irmãos - dependessem dele para todas as decisões principais respeitantes às suas vidas. Existia uma espécie de acordo tácito que fazia funcionar a máquina familiar sem que alguém tomasse as suas rédeas.
Na altura em que cheguei à Arábia Saudita, sete anos após a morte do xeque Mohamed, não existia uma distinção aparente entre esposas efectivas e esposas divorciadas. Ele divorciara-se realmente de muitas, e até voltara a casar com uma delas, Om Ali. Costumava manter as mulheres divorciadas e os respectivos filhos no seu complexo, desde que as mulheres não casassem com outro homem. Se o faziam - como Om Iareg - ficava com os filhos, que distribuía entre outras das suas esposas.
Depois de muitos anos a viver na Arábia Saudita, vim asaber que, para além de manter esposas reais e esposas divorciadas, Mohamed por vezes decidia estabelecer contacto com semiesposas. A prática do serah - aquilo a que chamamos concubinato, embora o termo não seja perfeito - não é bem-vista na Arábia Saudita e é rara mas sempre foi legal. Provavelmente porque no islão nenhuma criança pode ser ilegítima, foi há muito estabelecido que um homem podia fazer um contrato com uma rapariga ou com o pai dela para uma espécie de acordo marital limitado.
O casamento dura uma hora ou uma vida, segundo esse contrato. Seja qual for a relação, a semiesposa não herda riqueza por morte do homem. Se nasce um filho dessa união, é legítimo, e Mohamed instalava também essas mães no seu complexo e tratava os filhos delas exactamente como os outros.
Se o xeque Mohamed bania uma dessas mulheres, por qualquer razão, ficava sempre com a ou as crianças. Na Arábia Saudita, o chefe da família - seja ele o pai ou o filho mais velho - pode exigir a aplicação da charia a um membro do clã. Isso foi uma coisa que sempre me fez ficar gelada. De então para cá, conheci muitas mulheres completamente impedidas de qualquer contacto com os filhos, mesmo pelo telefone.
E, conforme vim a saber, se um filho desafia os duros costumes e convenções, o patriarca pode mesmo mandar matá-lo.
A minha vida como estrangeira
Inevitavelmente, à medida que os meses iam passando, comecei a assentar na minha nova vida. E também a pensar no futuro. Uma das minhas constantes fantasias era redecorar a casa. Estava ali fechada dia e noite, muitas vezes durante semanas seguidas, e a decoração era pavorosa.
Tentava manter-me ocupada, lendo, brincando com Wafah. Um dia, Osama, irmão mais novo de Yeslam, foi visitar-|-nos. Hoje, claro, ele é de longe o mais conhecido irmão de Yeslam, mas nessa altura era uma figura de pouca importância. Não passava dum jovem estudante que frequentava a Universidade Rei Abd el-Aziz em Gidá, respeitado na família pelas suas severas ideias religiosas e recentemente casado com uma sobrinha síria da mãe.
Osama estava perfeitamente integrado na família, apesar de não viver no quilómetro sete. Era um homem alto, muito magro, de presença imponente. Quando entrava numa sala, as pessoas davam por ele. Mas não era muito diferente dos outros irmãos, apenas mais novo e mais reservado. Nessa tarde, eu estava a brincar com Wafah, no vestíbulo, e, quando a campainha soou, estúpida e automaticamente, abri a porta, em vez de chamar o criado.
Vendo Osama e Mafouz, filho de Aisha, sorri e mandei-os entrar.
- O Yeslam está cá - garanti-lhes. Mas Osama voltou a cara assim que me viu, olhando para trás para o portão.
- Não, a sério, entrem - insisti eu.
Osama fazia rápidos gestos na minha direcção, mandando-me recuar e resmungando qualquer coisa em árabe, mas não consegui perceber o que dizia. Mafouz compreendeu que, segundo parecia, eu desconhecia as mais elementares regras da etiqueta social, e explicou que Osama não podia ver a minha cara descoberta.
Então, retirei-me para um quarto das traseiras, enquanto o meu devoto cunhado visitava o meu marido. Senti-me estúpida e desajeitada, como uma estranha.
Anos mais tarde, fiquei atónita ao ler na imprensa ocidental que Osama fora um playboy na sua adolescência em Beirute. Penso que, se isso tivesse sido verdade, me teria chegado aos ouvidos. Outro cunhado meu, Mahrous, teve realmente essa reputação, por andar atrás de muita saia enquanto estudava no Líbano, mas depois modificou-se e é agora um homem estritamente religioso. No entanto, nunca ouvi histórias desse género a respeito de Osama. As fotografias, agora famosas dum grupo de adolescentes irmãos Bin Laden na Suécia também não mostram Osama que, na altura, julgo eu, estava na Síria. O rapaz identificado nos meios de comunicação como Osama é na realidade outro irmão, Salah.
Tanto quanto sei, Osama foi sempre devoto, e a família respeitava-o pela sua piedade. Nunca ouvi alguém murmurar sequer que o seu fervor pudesse ser ligeiramente excessivo ou talvez uma fase passageira.
Os Bin Laden eram todos religiosos, embora a sua piedade variasse de intensidade. Osama e Mahrous eram dos mais extremistas. Bakr era devoto, mas não repressivo. E, tal como muitos jovens sauditas, Yeslam, Salem e outro irmão, Hassan, eram mais irregulares na sua prática do islão, embora a religião parecesse ir tomando conta deles à medida que iam ficando mais velhos.
Os membros masculinos da família Bin Laden podiam decidir ser um pouco mais flexíveis na sua prática religiosa: estavam no seu direito. Mas isso não se estendia às mulheres. Todas as mulheres na família Bin Laden eram muito decentes e, na Arábia Saudita, isso significava que eram devotas. Hassan casara com uma rapariga libanesa, Leila, ex-hospedeira de bordo considerada por muitos uma leviana. Reinava uma desaprovação geral dos seus modos ligeiros e descuidados. Leila não se comportava como competia à esposa dum Bin Laden.
Quanto a mim, procurava agradar. Não conseguia libertar-me da ideia do desapontamento que Om Yeslam devia ter sentido quando o filho casara com uma estrangeira. Tentei moderar o meu feitio impetuoso. Tentei aprender a rezar, a fazer as abluções rituais, a embrulhar cada centímetro de mim num pano leve, a desempenhar o bailado de genuflexões, vénias e posições hirtas de frente para Meca, o local mais sagrado do Islão. Mas nunca fui capaz de rezar cinco vezes por dia, como fazia a maioria das mulheres da família Bin Laden. Os Bin Laden orgulhavam-se profundamente do santuário de Meca, como todos os sauditas. São criados desde a infância na honra e responsabilidade de cuidar de Meca, onde o profeta Maomé foi inspirado por Alá. E a forma saudita do islão é a mais estrita - eles diriam mais pura - forma de religião. No século xvi, um pregador itinerante, o xeque Mohamed bin Abdul Wahab, uma espécie de revivalista puritano muçulmano, indignou-se com a mistura que as pessoas faziam do islão com velhas orações a pedras e árvores sagradas e com os seus santuários. Abd el-Aziz ibn Saud, na época um chefe guerreiro do deserto, influenciado pelo xeque Wahab, decidiu conquistar e unificar toda a Arábia Saudita em 1932.
Foi assim que a Arábia Saudita se tornou o único país do mundo a ficar com o nome dos seus reis governantes, os al-Saud. Eles estabeleceram a Arábia Saudita - com alguma ajuda dos Britânicos - manejando a espada e a palavra. O controlo dum vasto país de tribos beduínas separadas foi cimentado pela imposição da obediência absoluta às estritas regras alcorânicas do xeque Wahab, a fim de preservar a santidade de Meca.
Mohamed Bin Laden era tão piedoso e tão amado pelo rei que a sua companhia, a Corporação Bin Laden, recebeu o direito exclusivo de renovar Meca e a segunda cidade mais sagrada do islão, Medina. É difícil exprimir a honra que por isso se reflectiu na sua família, e não admira que as suas esposas fossem tão religiosas, embora me custasse suportar o facto.
A primeira vez que fui a Meca foi com uma amiga da família, do Kuwait. Na estrada, passámos por enormes cartazes avisando os não muçulmanos de que deviam voltar para trás, até que chegámos a um posto de inspecção. Os funcionários sauditas são obsessivos na proibição aos não muçulmanos de conspurcar os lugares sagrados de Meca, o que me punha nervosa. A minha mãe nasceu muçulmana, mas a sua prática do Islão era com certeza questionável à luz da piedade dos Bin Laden. E o meu pai fora cristão, coisa que nunca escondi, mas sempre senti que devia. Aprendera a rezar, evidentemente, mas não me sentia uma verdadeira muçulmana. Contudo, Abdou fez-nos passar alegremente, limitando-se a dizer «Bin Laden» ao inspector, o que foi mais do que suficiente. Chegámos mesmo quando soava o grito para a oração, e eu iniciei nervosamente o ritual.
Um funcionário da medonha polícia religiosa, a mutawa, desatou imediatamente a gritar comigo, e eu entrei em pânico. Teria cometido algum erro crucial no ritual, alguma coisa que denunciava a minha inexperiência? Mas Abdou disse-me que eu estava a rezar na zona dos homens. Nem sequer me ocorrera que teria de ficar separada, mesmo ali. Nada é facilitado, pensei, tentando respirar através do medo repentino.
Eu e a minha convidada avançámos para a secção do enorme pátio reservado às mulheres, e rezámos. Demos as sete voltas e bebemos a água do poço de Zamzam, onde três milénios antes a segunda mulher de Abraão, Agar, orientada por Deus, encontrou água para o seu filho Ismael, pai dos Árabes. Tocámos na Caaba, a pedra negra que Deus deu a Abraão, tocada por tantos milhões de mãos antes das nossas. Vimos a porta trancada da sala que é o santuário dentro do santuário, onde Yeslam e outros homens da família Bin Laden haviam sido autorizados a rezar.
Filosoficamente, sempre senti que não interessa como se reza a Deus ou que textos se lê - a Bíblia, o Alcorão, a Tora. Mas naquele colossal lugar sagrado da tradição, para o qual um bilião de muçulmanos se volta todos os dias para orar, até eu senti uma carga espiritual.
Voltei para casa pensativa e fui recebida pelo regozijo sem limites de Yeslam. Não era o período sagrado Hajj, mas eu cumprira a umra, a peregrinação inferior a Meca, sem os milhões de peregrinos que convergem para a cidade durante o período Hajj.
- Disse a toda a gente que tu fizeste a umra - exclamou ele, exultante. Parecia realmente orgulhoso de mim. Quando lhe contei da mutawa, desatou a rir.
Começámos a sair ocasionalmente, a dar-nos com outros casais. Alguns faziam parte dos banqueiros e industriais expatriados que começavam a chegar em massa à Arábia Saudita para participar no grande desenvolvimento do país. Um ou dois eram sauditas de pensamento moderno, que suportavam ver a cara descoberta duma mulher e, o que ainda era mais chocante, jantar com ela à mesa. Senti-me inspirada por aqueles momentos de normalidade, embora acabasse sempre por descobrir que não se tratava de verdadeiros lares sauditas, já que as mulheres eram invariavelmente doutro sítio qualquer, Síria, Egipto ou Líbano.
Depois dum desses jantares, no regresso tardio para casa, Yeslam disse-me que me sentasse a seu lado no banco da frente e que podia tirar o véu, se quisesse. Pela primeira vez, vi claramente as luzes da rua, sem véu fora de casa.
Pareceu-me outro marco. Meses antes, deslocava-me com duas camadas de véu sobre os olhos e toda a cara, sentava-me no banco traseiro do carro e ninguém me dirigia a palavra em público. Agora, podia comer à mesa dum homem fora da família Bin Laden, sentava-me ao lado do meu marido no carro e via as luzes da rua sem o estorvo do véu. Eram pequenas vitórias que precisava de contar. Agarrei-me a esses pequenos sinais de mudança, sentindo que me impeliam para diante.
Compreendo agora que as grades da minha prisão apenas se alargavam um pouco, mas na altura parecia-me que a porta para a liberdade e a escolha começava a entreabrir-se.
Às vezes, as coisas pareciam mover-se com tanta lentidão que me sentia completamente desesperada. E, apesar disso, ia ficando sempre. Compreendia que, de certo modo, era uma privilegiada, vivendo um momento único na evolução do país. A Arábia Saudita afastava-se rapidamente da Idade Média, dando enormes saltos em frente no progresso material. Ingenuamente, acreditava que às mudanças económicas se seguiriam mudanças sociais que alterariam de maneira irreconhecível a sorte das mulheres sauditas. Pensei que podia participar nesse momento essencial da história. Afinal, estava no lugar crucial no momento crucial. A perspectiva de tomar parte nas tremendas mudanças sociais que eu acreditava virem a caminho era uma coisa absolutamente excitante.
No entanto, nada parecia mudar para as mulheres na família Bin Laden. As suas vidas eram tão confinadas - tão pequenas, tão apagadas - que assustavam. Nunca saíam de casa sozinhas. Nunca faziam fosse o que fosse. O seu único objectivo na vida parecia ser aderir com maior perfeição às mais restritivas regras do islão. Nem que tentasse, teria conseguido viver assim, e com certeza que não era essa a minha aspiração.
Sentia que as mulheres da família Bin Laden eram como animais de estimação dos maridos. Mantidas encerradas nas suas casas e ocasionalmente acompanhadas em saídas especiais, esperavam todo o dia o regresso dos maridos - e às vezes toda a noite - e, quando eles chegavam, desempenhavam o seu papel de alegres e acolhedoras companheiras. De vez em quando, recebiam uma palmadinha na cabeça e uns presentes e ocasionalmente levavam-nas a sair, quase sempre a casa umas das outras.
Preparar essas pequenas festas era a única ocupação das mulheres; isso e a elaborada trabalheira com as suas roupas formais e enfeitadas. Os chás eram todos iguais. Sentávamo-nos rigidamente em cadeiras desconfortáveis, sem qualquer discussão profunda ou mesmo conversa de circunstância, com muitos silêncios e chaveninhas de chá e café e diferentes espécies de bolos. A conversa centrava-se nos filhos - que, entretanto, passavam a maior parte do tempo com criadas estrangeiras - e no Alcorão. As vezes, falávamos de roupas.
Sempre tive a impressão de que nenhuma das mulheres alguma vez lia, excepto possivelmente o Alcorão e outras obras de interpretação alcorânica. Nunca vi uma das minhas cunhadas pegar num livro. As mulheres nunca se encontravam com homens para além dos respectivos maridos e nunca falavam de assuntos importantes, mesmo com eles. Nada tinham para dizer. Conversávamos sobre a saúde dos nossos maridos e filhos, e todas elas se esforçavam constante e amavelmente por fazer de mim uma boa muçulmana. À medida que o tempo passava, acabei por considerar a presença de algumas delas uma agradável distracção. Mas no geral aborreciam-me de morte.
Yeslam não me tratava como os irmãos tratavam as mulheres deles. Se tratasse, eu não teria aguentado viver na Arábia Saudita. Mas, naquele tempo, ele era muito diferente dos outros homens sauditas. Tratava-me como um homem ocidental trataria: mais ou menos como sua igual. Envolvia-me na sua vida e nos seus pensamentos. Apreciava o meu intelecto e pedia-me conselhos. Falávamos de tudo, constantemente. Ele queria-me como companheira, membro de direito duma equipa de duas pessoas.
Tornou-se uma espécie de ritual - conversávamos enquanto ele tomava duche, depois de chegar do trabalho, por volta das duas ou três da tarde. Falávamos do dia dele, do que eu estava a ler, das notícias; parecia que nunca parávamos de ronversar. Passávamos as tardes e os serões a debater toda a espécie de assuntos, muitas vezes política. Ele confiava-me dia-liamente as dificuldades que encontrava na Organização BinL aden: mudanças que planeava, preocupações com o futuro. Ia companhia e as frequentes brigas e conflitos dos seus apa-u-iitemente calmos irmãos.
Yeslam tinha uma estranha relação com os irmãos. Por um lado, eram os seus únicos companheiros, já que praticamente níão possuía amigos. Aliás, os membros da família eram as únicas pessoas que contavam para ele. Há um ditado saudita que diz: «Eu e o meu primo contra o estranho; eu e o meu irmão contra o meu primo.» Entre os nómadas - e a cultura saudita foi formada por nómadas do deserto -, o clã é o único grupo que faz sentido. Portanto, Yeslam confiava mais nos irmãos do que a maioria das pessoas no Ocidente confia na família. Sabia que podia contar com eles, até certo ponto. Mas a mim podia confiar as suas frustrações com o clã, descrevendo-se as rixas mesquinhas e as muitas lutas secretas pelo poder.
Por vezes, olhava para Yeslam, enquanto jogávamos às cartas ao serão ou ouvíamos música juntos, e sustinha a respiração. Ele era tão belo, com as suas feições perfeitas e olhos meigos, e precisava de mim. Sabia que me amava. Para ele, eu era a sua força, a sua igual, uma parceira completamente leal que me punha de lado e me apagava para ele poder avançar.
Nisso, julgo eu, Yeslam era único na Arábia Saudita. A subserviência das mulheres sauditas está profundamente gravada naquela cultura. Prazer, conforto, igualdade - tantas coisas que eu tomara como certas - eram lá completamente desconhecidas. Em nada se assemelhava à maneira de viver na Pérsia ou em outros países árabes. A sociedade saudita está muito próxima das suas raízes nos antigos códigos dos Beduínos, que sempre viveram como nómadas num vasto deserto que os mantém isolados das ricas culturas que os rodeiam. A Arábia Saudita é um país severo e implacável. Para muitos sauditas chega a parecer, por vezes, que qualquer tipo de prazer é pecado.
Naquele tempo, eu era muito nova e acreditava que as coisas haviam de modificar-se. Vivia para Yeslam e Wafah, e para o futuro. Pensava que, com a inteligência de Yeslam e o poder da sua família, podíamos ajudar a mudar as coisas. Agarrava-me a cada sinal de que a Arábia Saudita estava a entrar para o mundo moderno: um véu levantado na rua; um novo banco só de mulheres, que significava que as mulheres podiam ter as suas contas bancárias; um canal de televisão em inglês; uma nova livraria.
Quase sempre ficava desapontada. O canal de televisão em inglês foi censurado até ficar praticamente sem qualquer interesse. E, para além das notícias sobre a última visita do rei ao estrangeiro, mostrava sobretudo desenhos animados e a série policial Columbo, programas sem beijos ou política. A livraria quase não tinha livros, visto que a alfândega saudita não permitia a entrada de histórias de amor, autores judeus, livros sobre religião, política do Médio Oriente ou Israel. Era desenco-rajante, mas continuei a pensar que se tratava apenas duma questão de tempo e as coisas haviam de mudar.
Ninguém nessa altura podia imaginar que a Arábia Saudita ia de facto tornar-se ainda fanaticamente religiosa e opressivamente conservadora com o passar dos anos. Mas os países atravessam fases, tal como as pessoas. Muitos homens sauditas são descontraídos na sua juventude, aproveitando tudo o que é confortável e divertido da cultura ocidental, mas depois casam. Lá por dentro, sempre mantiveram o seu inflexível sistema de valores, que vem à superfície com a idade.
Foi o que aconteceu aos Bin Laden durante os anos em que vivi com eles, e foi o que aconteceu à Arábia Saudita no eu todo durante os anos que lá passei. E que continua a acontecer ainda hoje.
Entretanto, comecei a fazer verdadeiras amizades, o que me ajudou. O irmão mais novo de Salem, Bakr, mudara-se para a anterior casa de Salem, mesmo defronte da nossa. Bakr era bastante desprendido - delicado e agradável, mas sempre plenamente consciente da sua alta posição na família Bin Laden. Eu sabia que Yeslam não gostava muito dele. Mas Haifa, a mulher, era uma encantadora criatura exuberante, uma loira síria de olhos azuis com (nessa altura) dois filhos.
Haifa e eu partilhávamos um sentido de humor, e os nossos filhos eram mais ou menos da mesma idade. Ela e Bakr haviam vivido em Miami durante algum tempo, ela falava inglês e entendia a minha claustrofobia. Mas mudara-se para a Vrábia Saudita anos antes de mim e, devido aos seus antecedentes árabes, moldou-se com muito mais facilidade à família Bin Laden do que eu alguma vez conseguiria.
Haifa era diferente de mim, mas tornara-se uma espécie de aliada, a minha «homóloga» árabe. Compreensiva, viva, simpática, e eu sentia-me grata por isso - era também uma excelente imitadora. Imitava perfeitamente o andar duma sogra e o meu caminhar de banda, com saltos altos e carteira debaixo da abaya às três pancadas. Era divertida.
Quanto a mim, penso que também constituía um alívio para ela. Vinda do ambiente mais livre da Síria, abafava com a estrita monotonia da Arábia Saudita, tal como eu. Seguras no jardim de Haifa, a bronzear-nos junto à piscina, ríamos às gargalhadas, imaginando como as sogras nos julgariam depravadas, se nos apanhassem com aqueles fatos de banho. Metíamo-nos na água e brincávamos com as crianças. E foi Haifa quem me ensinou, ainda muito mais do que Yeslam, a etiqueta que eu devia seguir e me disse a que casamentos e enterros devia comparecer como esposa Bin Laden.
A primeira vez que decidi atravessar a estrada a pé para ir a casa dela - a primeira vez que apareci em casa de Haifa a pé depois de atravessar metros de estrada sozinha, em vez de chamar o motorista - ela fez um enorme sorriso.
- Carmen! Que revolução! - exclamou ela. - Amanhã, todos os Bin Laden vão dizer que te viram na rua !
Haifa amava o marido. Não se tratava dum casamento completamente combinado. Conheceram-se na Síria, e existia afecto entre eles, coisa que raramente notei em casais da família Bin Laden. Em 1978, Haifa deu à luz o seu terceiro filho, uma rapariga. Fui dar-lhe os parabéns no dia seguinte, e cheguei no momento em que Bakr entrava com os dois filhos.
- Beijem a mão da vossa mãe. Ela deu-vos uma irmãzinha - disse ele, num tom formal, mas meigo.
Mostrava respeito, pensei eu. Existia amor naquele casamento, um dos poucos que eu conhecia na Arábia Saudita em que isso era verdade.
Fiquei grávida de novo. Senti-me contentíssima e pareceu-me que Yeslam também. Companhia para Wafah, outro bebé, e com certeza que desta vez seria rapaz. Todo o clã Bin Laden pareceu ficar muito contente com a notícia, e passei a ser recebida com exclamações de:
- Insh 'allah que tenhas um rapaz!
O bebé devia nascer em Julho de 1977 e eu apanhei o avião para Genebra dois meses antes, para ter a certeza de ser tratada como devia ser.
A família Bin Laden tinha direito a utilizar os aposentos especiais da família real em todos os melhores hospitais sauditas, mas eu não confiava nos médicos da Arábia Saudita. A maioria estudara na Síria e no Egipto e parecia sempre pronta a encher-nos de comprimidos e injecções. As outras mulheres Bin Laden davam geralmente à luz em Gidá, mas para exames especiais iam com frequência ao estrangeiro, à Europa ou aos Estados Unidos. Uma grande porção do nosso tempo de viagem ao estrangeiro era ocupada por visitas médicas.
A minha mãe e as minhas irmãs trataram de mim nas últimas semanas de gravidez. Descansei à luz suave do Sol primaveril e vi Wafah brincar no jardim da minha mãe, como eu outrora, no mesmo jadim, tantos anos antes. Percebi que Wafah se sentia à vontade em casa da avó, e Yeslam visitou-nos muitas vezes. Foi uma época suave, que relembrei frequentemente nos anos seguintes.
Desejar ter um rapaz não era mero capricho das minhas últimas semanas de gravidez. Para as mulheres sauditas, é essencial produzir herdeiros masculinos, não apenas por uma questão de posição pessoal na sociedade, embora para muitas isso faça parte da questão. (Ser tratada por Om Ali soa muito melhor do que simplesmente Om Sarah.) Pode ser uma questão de sobrevivência básica.
Por morte do marido, se a mulher tiver apenas filhas, ela e as filhas - mesmo que sejam adultas - tornam-se dependentes do parente masculino mais próximo do marido. Ele fica seu guadião e deve aprovar até as mais simples decisões, como viagens, educação ou escolha de marido. Mesmo em termos de herança, uma família só de mulheres é discriminada. Quando o marido morre, se deixa apenas filhas, cinquenta por cento da sua herança passa para os seus pais e irmãos. A viúva e as filhas ficam só com metade dos seus bens.
Apenas quando a mulher tem filhos a herança é toda para ela e os filhos. E, assim que se torna adulto, o filho mais velho pode agir como guardião da mãe e das irmãs.
Insh'allah que eu tivesse um rapaz.
Por fim, as minhas contracções começaram, ligeiramente mais cedo do que se esperava. Antes de ir a clínica, telefonei a Yeslam, que ainda estava na Arábia Saudita.
- Não podes esperar até amanhã que o meu avião chegue? - perguntou ele, num tom bastante petulante.
Fui obrigada a rir. Estava tão habituado a fazer o que queria... Acharia ele que eu podia adiar o nascimento duma criança para coincidir com o seu horário?
Foi uma rapariga, uma linda rapariguinha, perfeita, que adorei instantaneamente. Chamámos-lhe Najia, um nome de que sempre gostei, e que significa o mesmo que Yeslam: protegida.
Najia era um encanto, o bebé mais fácil que uma mãe podia desejar. Acrescentou muito à minha vida. Era amorosa e frágil e, sabendo eu melhor o que a esperava na Arábia Saudita, desejei, por causa dela, que tivesse sido rapaz.
As vezes pensava para comigo, olhando para as minhas filhas: se Yeslam fosse um homem europeu, como seria? Ter duas raparigas teria tanta importância? Apercebendo-se da minha agitação, tentou confortar-me, insistindo que não era importante, mas dentro de mim qualquer coisa dizia o contrário. E senti que o deixara ficar mal.
Por essa altura, ja sabia que na Arábia Saudita era vital eu ter um filho. Se assim tivesse acontecido, tê-lo-ia educado a saber que as mulheres são iguais aos homens, e ele protegeria as irmãs, no caso de alguma coisa acontecer ao pai. Com um rapaz, mesmo sem a ajuda de Yeslam, teríamos um defensor próximo de nós, com valores iguais aos meus.
Ainda não sabia, evidentemente, mas de certa forma foi Najia quem, anos mais tarde, nos salvou a todas. Se tivesse um filho, talvez me visse obrigada a ficar na Arábia Saudita. Éramos ricas e respeitadas; a nossa vida lá era confortável. Mas, com duas garotinhas a meu cargo, iria tornar-se mais sensível ao sinistro e opressivo condicionamento das meninas sauditas à medida que se tornam mulheres. Com Najia e Wa-fah, acabei por me sentir obrigada a deixar o país. Muito simplesmente, não era capaz de ver as minhas preciosas filhas submeterem-se à cultura saudita.
Por isso, Najia foi uma dádiva do céu. Não só era encantadora, mas também me deu a força que havia de necessitar para nos libertarmos todas da Arábia Saudita.
Duas mães, dois bebés
Voltámos para a Arábia Saudita em Agosto, com um calor sufocante. Alguns dos irmãos Bin Laden resolveram ir passar um dia na casa de campo da família, em Taef, nas montanhas, a cerca de duas horas de carro de Gidá. Era um casarão, construído na década de cinquenta ou sessenta sem qualquer encanto, mas um pouco mais fresco. E sempre se mudava a rotina. Nós, mulheres, instalámo-nos nos aposentos femininos com as crianças.
A minha Najia estava com uns meses, e Najwah, a mulher de Osama - uma rapariga síria, filha dum tio dele, irmão da mãe -, tinha um bebé mais ou menos da mesma idade, Ab-dallah. O garotinho começou a chorar e não havia maneira de se calar. Estava com sede. Najwah tentou dar-lhe água com uma colher de chá, mas aquele bebé minúsculo não conseguia beber por uma colher. A minha Najia bebia constantemente pelo seu biberão de água, e eu ofereci-o a Najwah.
- Toma, ele está com sede - disse-lhe eu.
Mas Najwah não aceitou o biberão, ela própria quase a chorar.
- Ele não quer a água - repetia ela. - Não pega na colher.
Om Yeslam teve de me explicar que Osama não queria que o bebé utilizasse um biberão. E Najwah nada podia fazer contra isso. Olhei para ela, triste e impotente, uma pobre figurinha, muito nova, com o filhinho nos braços, a vê-lo sofrer, não aguentei.
Lá fora, o calor era insuportável, possivelmente uns trinta e oito graus. Um bebé podia ficar desidratado em poucas horas com aquela temperatura, e custava-me a acreditar que alguém provocasse realmente tal sofrimento ao seu filho minúsculo por causa duma ridícula ideia dogmática acerca duma teta de borracha. Não podia ficar ali sentada de braços cruzados.
Com certeza que Yeslam era capaz de fazer alguma coisa. Eu não podia ir até ao lado masculino da casa pedir-lhe que intercedesse. Como cunhada, não me era permitida a entrada sem véu nos aposentos dos homens. Mas uma irmã, que crescera de cara descoberta junto dos irmãos, podia. Implorei a uma delas que fosse chamar Yeslam.
Quando ele chegou, disse-lhe, indignada:
- Vai dizer ao teu irmão que o filho está a sofrer e precisa dum biberão. Isto tem de acabar!
Mas Yeslam voltou, a abanar a cabeça, e disse-me:
- Não vale a pena. É o Osama.
Não podia acreditar. Durante todo o caminho de regresso a Gidá, o episódio perseguiu-me. Osama fazia o que queria da mulher e do filho: era um dado aceite. E a mulher não se atrevia a desobedecer-lhe: outro dado. Pior ainda, ninguém ousava interceder. Até Yeslam parecia estar de acordo com o despotismo do irmão dentro de casa. A força que uma vez julgara ver no meu marido e que tanto admirara parecia estar a dissipar-se na quente atmosfera árabe.
Com ele a guiar o carro de volta para Gidá, olhei em silêncio para o mundo lá fora, velada, sentindo-me sufocar.
Tenho a certeza de que Osama não queria perder o filho. Não era que não se importasse com a criança. Mas, para ele, o sofrimento do bebé era menos importante do que um princípio que provavelmente imaginava provir de algum versículo do século VII do Alcorão. E a família parecia amedrontada pelo zelo de Osama, intimidada até ao silêncio. Para eles, como para a maioria dos sauditas, nunca se exagera nas crenças religiosas.
Foi nessa altura que percebi até que ponto me tornara impotente. Vi-me no lugar de Najwah. Desde o nascimento de Najia, uma questão crucial não me saía da cabeça. Com duas filhinhas, que seria de mim se Yeslam deixasse de estar por perto? Todas as mulheres na Arábia Saudita têm um guardião que tem de aprovar quase tudo o que elas fazem. Sem Yeslam, se eu não tivesse um filho para desempenhar esse papel de guardião da mãe e das irmãs, o guardião seria um dos irmãos dele. E eu ficaria completamente dependente desse homem.
A não ser que tivesse um filho, precisaria da aprovação dum cunhado para deixar o país ou até Gidá. Wafah e Najia podiam ver-lhes negada uma educação ou serem entregues em casamento a uma pessoa escolhida pelo seu guardião, sem a minha intervenção. Homens como Osama podiam um dia mandar em mim e nas minhas filhas, e eu nada poderia fazer contra isso.
Durante todo aquele longo trajecto de regresso a casa, pensei nas mães que eu conhecia e eram obrigadas a viver sem os filhos. Era uma longa série de mulheres que não controlavam as próprias vidas nem tinham a quem recorrer. Havia Taiba, uma das irmãs de Yeslam, uma figura trágica. O marido divorciara-se dela, ficando com as duas filhas pequenas, de sete e quatro anos, quando as conheci. Taiba só podia vê-las nas tardes de sexta-feira. Om Yeslam disse-me que as crianças se fartavam de chorar sempre que a mãe era obrigada a deixá-las. Taiba era uma mulher triste e apagada, velha e gasta, apesar de não ter sequer trinta anos.
Havia Ula Sebag, uma querida amiga minha, casada com um americano-palestiniano que trabalhava na Embaixada americana. Ula era sueca e fora anteriormente casada com um saudita, de quem se divorciara. Planeava permanecer com o filho de dois anos, porque, embora seja habitual um homem ficar com os filhos ao livrar-se da mulher, é bastante vulgar deixar uma criança muito pequena com a mãe. Mas uma tarde, em Beirute, no alfaiate, Ula largou a mão do filho. Uns minutos depois, a criança desaparecera, raptada pelo pai saudita. E Ula nunca mais o viu, apesar de implorar ao menos uma visita.
Najia, outra das irmãs de Yeslam, casou pouco antes de eu chegar à Arábia Saudita. Um dia, o marido resolveu divorciar-se e ela nunca mais viu os quatro filhos. Eu perguntava-lhe:
- Por que razão os teus irmãos não fazem qualquer coisa? E ela limitava-se a sorrir e dizia:
- Ai, Carmen... - Como se eu fosse a tolinha lá da terra. Não podíamos dizer uma palavra contra os irmãos, e o estatuto do marido era incontestável.
Aquilo estava a roer-me. Sentia como que um grande peso dentro de mim. E se Yeslam tivesse um acidente, por exemplo, durante aquela viagem de regresso a Gidá? Se ele deixasse de estar junto de nós para proteger as minhas pequenas e amargas liberdades, qual seria a sorte das minhas rilhas como mulheres sauditas? Quem decidiria das suas vidas? Salem? Bakr? Ibrahim? E quem podia dizer em que se transformariam esses homens, com a idade e o poder? Eu seria uma espécie de mendiga, completamente dependente dos seus caprichos, vendo-os controlar a vida das minhas filhas nos mais pequenos pormenores.
Pela primeira vez, senti um verdadeiro fosso entre Yeslam e eu, numa questão que tinha mais importância para mim do que qualquer outra coisa no mundo. Quando tentei que me tranquilizasse - num assunto que estava a torturar-me - não pareceu querer falar disso. Eu precisava que ele tomasse medidas para resolver o problema, um plano que me guiasse em caso de tragédia, para ter a certeza de que seria sempre eu a ocupar-me das nossas filhas, fosse o que fosse que a vida nos reservasse. Queria que ele me dissesse que olharia sempre por nós, que ficaríamos sempre a salvo dos caprichos daqueles homens. Para mim, um homem protege a sua família, pensa com antecedência, e toma providências para que ela fique segura.
Mas aquilo parecia não o preocupar. Yeslam não conseguia entender a dimensão do meu medo. E quando, por fim, eu compreendi isso, fiquei ainda mais amedrontada.
De repente, senti que estava sozinha. Sem ajuda. E completamente impotente.
Depois desse dia em Taef, as coisas nunca mais foram iguais. As minhas esperanças dum mundo mais livre no futuro, em que as mulheres pudessem pelo menos ter uma palavra a dizer a respeito da vida dos próprios filhos, ficaram destroçadas e enterradas para sempre na areia do deserto árabe pela dogmática percepção vaabita do Islão. Emocionalmente, o medo e a solidão que eu sentia nessa altura passaram a colorir tudo aquilo que ia ver e viver nos anos seguintes. Embora tentasse comportar-se como se as coisas estivessem normais, um constante sentimento de preocupação passou a acompanhar-me para todo o lado. Deixei de ser uma mãe sem problemas, e a ideia do futuro adquiriu um travo amargo.
Companheira de mim própria
Tentei deitar o pânico para trás das costas. Apesar de ele se manter no fundo do meu espírito durante todo o tempo em que vivi na Arábia Saudita, precisava de continuar a minha vida. Resolvi distrair-me com um ansiado novo projecto. Om Yeslam e Fawzia decidiram mudar-se, e Yeslam dera-lhes uma parcela de terreno ao lado do nosso para terem a sua própria casa. Yeslam e eu tínhamos duas garotinhas e éramos uma verdadeira família. E eu podia finalmente tentar construir um verdadeiro lar.
Arranjei um cozinheiro, porque não me interessava trabalhar na cozinha como Om Yeslam, e comecei a fazer projectos para demolir paredes e abrir as nossas divisões escuras e mal planeadas. Desenhei uma nova cozinha anexa a casa; grandes portas de vidro de correr para a sala e novos aposentos para as duas criadas mulheres.
Os nossos criados homens - criados cozinheiro, jardineiro porteiro e dois motoristas - viviam num alojamento separado junto ao portão. Uma tarde, descobri que o intercomunicador não funcionava, e fui até lá chamar o meu
motorista, Abdou. Enfiei a cabeça pela porta e deparou-se-me uma cena de tal sordidez que tive de investigar mais a fundo. Como os criados estavam a ver um jogo de futebol no alojamento dos criados de Bakr, pedi a Abdou que ficasse à porta e tomasse conta para ninguém me seguir. Não podia arriscar-me a ficar sozinha com um dos criados no quarto onde dormiam. Inspeccionei o alojamento e vi uma cozinha incrivelmente suja e muito malcheirosa, com as paredes negras de gordura. Até os quartos estavam imundos.
A propriedade era minha, mas senti-me quase uma intrusa. Nenhuma mulher entrara ainda naquela casa. Os homens que lá viviam iam a casa ver as mulheres e os filhos talvez de dois em dois anos. Desprezavam o que consideravam trabalho de mulher e, apesar de terem de limpar a minha casa, viviam ali como animais. Fiquei horrorizada com o que se me deparou, dentro das paredes do meu próprio complexo. Comprei tinta e dei-lhes dinheiro para novos móveis, insistindo para que limpassem tudo.
Entretanto, fui redecorando a nossa casa. Era um alívio, mas eu não previra a dimensão do desafio. Comprar certas coisas era quase impossível, porque não havia lojas. Por fim, descobri que uma mulher libanesa casada com um saudita instalara uma espécie de loja de móveis no rés-do-chão da sua casa, com móveis modernos comprados em viagens à Europa. Era uma loja estranha, meio casa, meio armazém, mas pelo menos consegui encontrar uma alcatifa creme e espessa. A horrível alcatifa verde-escura ia finalmente desaparecer.
Porém, como havia de alcatifar a casa? Como não podia ser vista pelos trabalhadores nem eles me verem, tinha de partir do princípio de que sabiam o que estavam a fazer e confiar no secretário egípcio de Yeslam para os dirigir. Resignei-me à evidente perda de tempo e energia, dei-lhe as minhas instruções e, quando os homens chegaram, concordei em retirar-me para um quarto das traseiras durante todo o dia. Havia pó, barulho, e as crianças estavam inquietas. E, nessa noite, quando saí do esconderijo, aos meus olhos deparou-se-lhes uma autêntica carnificina. A alcatifa fora colocada perpendicularmente às enormes janelas novas, e todas as costuras eram claramente visíveis. Não estava melhor do que a velha alcatifa verde.
Eu disse a Yeslam que o trabalho precisava de ser todo refeito; ele suspirou e, na manhã seguinte, deu ordem aos trabalhadores para arrancarem a alcatifa e substituí-la. No dia seguinte, voltei ao meu refúgio. Nessa noite, as costuras da alcatifa eram menos óbvias, mas tinham colocado um bocado com defeito mesmo no meio do chão, onde estaria mais à vista. É evidente que não estava disposta a conviver anos com aquele disparate. Disse a Yeslam que era preciso fazer tudo de novo. Não tenho a certeza se ele ao menos percebeu o que se passava. Claro que se sentia frustrado, porque não lhe faltavam coisas melhores que fazer. Além disso, depois de ter vivido no Ocidente, achava aquela jigajoga quase tão maçadora como eu. Por isso, voltou-se para mim e sugeriu:
- Vai lá tu dizer-lhes.
Foi realmente um passo gigantesco. Uma mulher Bin La-den falar com um trabalhador, um estranho, nem sequer um criado da sua casa, praticamente um desconhecido da rua, era coisa nunca vista. Cobri-me toda com a abaya, corpo e cabeça, mas deixei a cara livre do impenetrável véu preto, porque precisava de ver bem. E então surgi do quarto das traseiras para falar com os trabalhadores e dizer-lhes o que era preciso fazer.
Não olharam para mim. Ordenei-lhes que voltassem a arrancar a alcatifa, mas recusaram-se a ouvir-me. O sudanês que estava a alcatifar limitou-se a colocar mais alcatifa. Eu repeti a ordem, elevando a voz. Por fim, o homem voltou ligeiramente a cabeça, mas ainda sem me enfrentar.
- Eu não recebo ordens de mulheres! - rosnou ele.
Só quando o secretário de Yeslam chegou e insistiu repetidamente que eu estava encarregada do trabalho e que ele devia obedecer ao que eu dizia é que a coisa se fez, embora com uma alcatifa já enxovalhada. Mais tarde, no meu quarto, senti-me ferver de frustração, sem saber se havia de rir ou de chorar. Cada gesto que eu podia fazer naquele mundo parecia estar sob o controlo dum homem. Nunca me sentira tão dependente.
Mas acabei por acalmar. A vida estava a mudar. As construções surgiam por todo o lado à nossa volta. Quando lá cheguei, as casas dos Bin Laden no quilómetro sete encontravam-se completamente isoladas e o deserto logo atrás do meu jardim. Agora, Gidá transformara-se num colossal local de construção que se estendia na nossa direcção ao longo da Estrada de Meca. A Praça dos Burros e as suas miseráveis e escuras mercearias estava a transformar-se na Praça do Zimbório, com um enorme e moderno espaço público bastante belo. De cada vez que voltava duma visita de algumas semanas a Genebra, não reconhecia novas partes da cidade.
Portanto, num sentido físico, a Arábia Saudita transformara-se, transformara-se imenso. Nenhum outro sítio no mundo se desenvolveu tão repentinamente como a Arábia Saudita nos primeiros cinco ou seis anos da minha vida lá. Meio século antes, as pessoas embrulhavam-se em lençóis molhados à noite para poder dormir, por causa do calor. Agora, toda a gente parecia ter ar condicionado. Havia vendedores de automóveis por toda a parte e, em algumas dessas lojas, até era possível entregar camelos como parte do pagamento dum novo Toyota.
Inundados por petrodólares, os Sauditas pareciam não se fartar de gastar.
Surgiram as primeiras butiques de moda - só com pessoal feminino, para podermos tirar o véu da cara e ver bem a roupa ou até despirmo-nos para a experimentar. As mulheres mergulharam num verdadeiro frenesi de compras. Debaixo dos véus, as mais novas pintavam-se como estrelas de cinema e vestiam-se com os últimos modelos europeus.
As cabeleireiras ainda vinham a casa. O cabelo era uma das principais preocupações, escondido e depois eroticamente exibido só aos maridos. Nós, mulheres, continuámos a viver quase em completa exclusão do mundo dos homens. Mas as lojas estavam já atulhadas de acessórios do mundo moderno - dispositivos electrónicos e caros ténis. E, de repente, apareceu na baixa um supermercado da cadeia Safeway.
Tornou-se o máximo ir às compras no Safeway. Éramos transportadas pelos nossos motoristas, várias mulheres de cada vez. (As mulheres Bin Laden nunca pareciam sentir-se confortáveis fora de casa sozinhas.) Chegadas lá, olhávamos para tudo, embasbacadas. Qualquer produto moderno podia ser comprado... e era. Enchíamos carro após carro com Jell-O, sopas Campbell, queijo e chocolates suíços. O pão da padaria ainda vinha cheio de gorgulhos - eu insistira com o cozinheiro para aprender a fazer pão -, mas agora tínhamos rodelas de ananás e leite verdadeiro. Sabiam a progresso.
Por essa altura, já me habituara à abaya com a sua incómoda roda, mas de vez em quando ainda me atrapalhava. Um dia, andava às compras com o meu motorista Abdou, e tropecei no pano preto. Caí por uma escada e, não sei como, fiquei completamente embrulhada, sem conseguir levantar-me. Ergui ligeiramente a cabeça e vi Abdou, a sorrir, embaraçado, sem se atrever a ajudar-me. Ri-me também, porque era impossível não ver o cómico da situação, e pus-me de pé desajeitadamente sem a ajuda dele.
A febre consumista afectou até as sérias mulheres Bin Laden. O Safeway foi apenas o começo, e as minhas cunhadas em pouco tempo estavam também a redecorar as casas. Mas escolhiam móveis e tecidos berrantes, terríveis imitações de tudo o que eu seleccionara cuidadosamente. Em casa de Fawzia, havia por todo o lado coisas brilhantes, de cores vivas e que não condiziam umas com as outras. Continuava a ter flores de plástico. Na casa de banho, os canos ficaram à mostra, num trabalho desleixado. Fawzia e as outras nunca elogiaram a minha casa, porque não a achavam digna da sua admiração. Copiavam-me e, no entanto, olhavam para mim e para a minha casa com superioridade. Ia tudo dar ao mesmo: elas eram sauditas e eu não.
Eu lia vorazmente, e estava a ficar com uma verdadeira biblioteca. Levava caixotes de livros de Genebra, porque os temidos funcionários da alfândega não se atreviam a revistar a bagagem dos Bin Laden à procura de contrabando literário. Lia política, economia, biografias, filosofia - qualquer coisa interessante a que conseguisse deitar a mão. Um dia, li um artigo numa revista sobre a circuncisão feminina - a horrível prática de mutilar os órgãos genitais das raparigas, ainda habitual no Egipto e em zonas da África Ocidental.
Om Yeslam estava na cozinha, e eu fiquei tão perturbada com o que lera que desbobinei aquilo tudo. Suponho que queria que ela me confortasse. Decerto não esperava a reacção que obtive. Sorriu-me e disse:
- Não é assim tão mau, sabes? É só um cortezinho, um cortezinho de nada. A rapariga é muito nova e não dói assim tanto.
Seria ela uma das mulheres barbaramente mutiladas? E Fawzia? E a filha mais velha do xeque Mohamed, Aisha? Quantas das esposas e filhas do xeque Mohamed incluíam essa terrível cicatriz emocional e física nos seus segredos? Não teria fim o sofrimento que as mulheres sauditas eram obrigadas a suportar? Corri para junto dos meus bebés e abracei durante muito tempo as minhas meninas tão perfeitas.
Lentamente, à medida que começámos a circular um pouco mais, fui sentindo o início do progresso social. Os sauditas mais novos e com um pensamento mais moderno foram deixando de cumprir as tradições. Algumas mulheres - e depois cada vez mais - abandonaram o negro véu facial opaco. Andavam pelos centros comerciais (embora raramente nas ruas públicas) com os triângulos nus das caras à mostra, apesar de continuarem a usar a abaya a cobrir-lhes o corpo e a cabeça. A própria Om Yeslam passou a tirar o véu facial diante do motorista e a falar directamente com ele.
Entretanto, decidi ser eu própria dentro da minha casa. A vida lá fora estava longe de ser normal, mas ia dirigir a minha casa à minha maneira. Seria o meu refúgio, o meu abrigo.
Via os criados como pessoas, como eu, apenas em circunstâncias diferentes, e procurei compreendê-los. Sei que eles gostavam de mim, porque eu era delicada e não lhes berrava ordens como as outras mulheres. As minhas filhas diziam «por favor» e «obrigada». Eu, embora possa ter sido exigente, nunca insultei ninguém, o que era invulgar e muito comentado. Os Bin Laden viam o pessoal como objectos: funcionavam adequadamente ou eram estúpidos.
Uma vez, depois duma tempestade de areia, pedi ao nosso velho porteiro paquistanês que limpasse o terraço de mármore que havíamos mandado construir. Pegou na esfregona que eu tinha comprado, molhou-a e começou a andar com ela em círculos. Como resultado, surgiram círculos enlameados. Repeti o pedido, e o resultado foi o mesmo. Admito que elevei a voz, porque estava exasperada. Perguntei-lhe o que não percebia ele do meu pedido duma tarefa tão simples. Mas depois calei-me. Que sabia o pobre homem sobre limpar com uma esfregona? Vivera a maior parte da vida num chão de terra batida. Por isso, descalcei os ténis, arregacei as calças e comecei a mostrar-lhe como se fazia, em linhas direitas. Yeslam chegou precisamente nesse instante.
- O que é que estás a fazer? - gritou-me ele, furioso. Entrei rapidamente em casa, sem saber o que seria pior - mostrar os tornozelos a um homem ou limpar o chão com uma esfregona. Uma mulher Bin Laden não faz qualquer dessas coisas.
Todavia, achei o incidente bastante divertido. No entanto, noutras ocasiões fui um tanto menos conciliatória. Uma vez, encontrei o motorista iemenita de Yeslam com o carro estacionado dentro do nosso complexo, com o motor a trabalhar. Mesmo à distância senti o calor do motor e o cheiro a queimado. Disse-lhe:
- Desliga o motor, que está a aquecer demasiado. Mas o homem ignorou-me.
- Tenho de manter o ar condicionado a trabalhar para o xeque Yeslam - retorquiu. Quando eu insisti, ele respondeu-me: - Não recebo ordens de mulheres.
Era tão insultante e absurdo - com o carro quase a arder - que lhe gritei:
- Quando o xeque Yeslam não está, quem manda sou eu! Bakr ouviu o barulho de casa dele, do outro lado da rua, e
resolveu intervir. Escusado será dizer que o motorista desligou imediatamente o motor.
A vida continuava. Instalámos um campo de ténis. Eu ansiava por um pouco de exercício. Yeslam aprendera a jogar em Los Angeles, e eu encomendei dúzias de raquetas e sapatos de todos os tamanhos. Depois, começámos a convidar pessoas para partidas nas noites de quinta-feira.
Foi outra tentativa para criar uma vida normal. Eu vestia roupa normal, e servíamos bifes do lombo grelhados ao ar livre e cerveja, tal e qual como na América. Era um bocado complicado comprar bebidas alcoólicas no mercado negro, porque são proibidas na Arábia Saudita. Mas o pessoal das embaixadas trazia-as para o país nas malas diplomáticas, e os motoristas mantinham um comércio ilegal. Abdou, o meu motorista, comprava cerveja aos motoristas duma embaixada africana. Estávamos seguros, porque a polícia religiosa nunca se atreveria a revistar as casas de príncipes ou da família Bin Laden.
Eu era a única mulher Bin Laden que recebia homens em casa. Haifa costumava dizer:
- Pelo menos o Yeslam vai para casa, passa tempo contigo. E conversa e deixa-te viver a tua vida.
Não dizia aquilo por ciúmes, mas sim contente por mim, acentuando as coisas que tornavam o meu marido especial. Não pretendia enfrentar o mundo como eu fazia por necessidade, mas tentava ajudar-me a ajustar-me à minha vida saudita, a ser feliz.
As reuniões das quintas-feiras mantinham realmente a minha sanidade mental, acho eu. Recebia estrangeiros, pessoal das embaixadas, homens de negócios ocidentais e alguns árabes que trabalhavam em multinacionais a funcionar no golfo, em franco desenvolvimento, mas que se sentiam muito isolados socialmente. Os homens de negócios em visita, sobretudo, mostravam-se infinitamente gratos por poderem fugir por algum tempo dos lúgubres quartos de hotel onde muitas vezes esperavam durante semanas até serem recebidos por algum príncipe ou arrogante homem de negócios local. Lidar com a Arábia Saudita era bastante difícil para eles, devido às infindáveis esperas, à inactividade e a todas as restrições.
Muitos expatriados a viver na Arábia Saudita estavam tão desesperados por divertimento e distracção que faziam as suas próprias bebidas alcoólicas dentro das banheiras. Uma vez, no Safeway, vi uma enorme multidão desses expatriados à volta dum expositor de chocolates, a encher os carros com dúzias de caixas de bombons. Intrigada com o que se passava, examinei as compras dum desses homens na fila para a caixa. Eram bombons de licor, com quirche! Fartei-me de rir com aquilo.
Algum funcionário da alfândega metera água, pela certa.
As nossas noites de quinta-feira eram de porta aberta, e chegávamos a receber de vinte e cinco a setenta pessoas. Havia os habituais, como o embaixador americano, John West, e Lois, a mulher dele, amigos que me são fiéis até hoje. Shelton, a filha deles tinha na altura cerca de vinte anos, e custava-me imaginar como seria difícil a vida saudita para uma rapariga americana, solteira e jovem, numa sociedade tão fechada.
Em contraste, o ambiente na nossa casa era realmente descontraído, como nos acontecimentos sociais que eu tanto apreciara na América. Criámos uma sala de televisão para as crianças, com vídeos. As pessoas traziam amigos. Para os expatriados, tornou-se um autêntico acontecimento naquilo que passava por ser a agenda social de Gidá. A primeira vez que a mulher do embaixador belga apareceu, vinha resplandecente num elaborado vestido comprido e ficou visivelmente espantada ao ver-me de calças à pirata, ao lado de homens de calções.
- Ena, é mesmo à vontade! - exclamou ela. - Sempre que alguém diz «venham à vontade» neste país, encontro toda a gente vestida a rigor. Isto é realmente uma surpresa!
O ténis era uma distracção, que descontraía ainda mais o ambiente. Mas a maior parte de nós conversava. Chegavam pessoas com as últimas notícias, ou falávamos de política e de livros. (As minhas estantes de livros, muito invejadas, começaram a funcionar como uma espécie de biblioteca comunitária.) Outras vezes, os homens de negócios falavam de importantes contratos que estavam a negociar e das oportunidades que iam surgindo no país.
Aquelas eram as pessoas que estavam a construir a nova e moderna Arábia Saudita. Falar com elas, ouvi-las e responder-lhes tornou-se a minha tábua de salvação. Era estimulante, um desafio. E útil para os negócios de Yeslam. Quando aqueles homens, muitas vezes directores de importantes corporações, vinham a nossa casa para jogar ténis, comer e beber uma cerveja, isso abria novas portas ao meu marido e tornava-o diferente dos outros sauditas. Não era brincadeira ser-se convidado para casa de Yeslam.
Yeslam estava a tornar-se influente. Pertencia à importante família Bin Laden e, mesmo dentro da hierarquia dos irmãos Bin Laden, começava a subir para os postos principais, a ser alguém a ter em conta.
Às vezes, Yeslam convidava homens sauditas para essas partidas de ténis, mas nunca recebemos qualquer mulher saudita. Eu gostava de desafios e procurava manter a normalidade sempre que algum deles aparecia. Pensava que, se me vissem a conversar livremente com Yeslam, se habituariam e talvez compreendessem que era muito mais compensador manter uma relação de troca e companheirismo com as suas mulheres. Imaginava que estava a ajudar a sociedade saudita a evoluir, mas o mais certo era a maior parte deles achar o nosso ambiente descontraído uma ameaça com que não sabia lidar. Os irmãos de Yeslam, por exemplo, apesar de aparecerem com alguma frequência, nunca se demoravam.
Numa noite de quinta-feira em 1978, todos os diplomatas falavam do último boato a circular por Gidá. Uma das jovens sobrinhas-netas do rei, a princesa Mish'al, fora cruelmente assassinada num parque de estacionamento da baixa da cidade. Praticamente uma adolescente, estava prometida em casamento a um homem muito mais velho. Tentara fugir do país com o rapaz de quem gostava, servindo-se dum passaporte falso, mas fora apanhada no aeroporto.
Nenhuma mulher pode abandonar a Arábia Saudita - nem sequer viajar para fora da cidade em que vive - sem a autorização escrita do marido, do pai ou dum filho. Uma mulher nunca é legalmente adulta. Mas existe uma rede secreta de mulheres que vende passaportes e autorizações. Como nenhum funcionário da alfândega ousa pedir a uma mulher que tire o véu, não é difícil assumir outra identidade.
Apesar disso, Mish'al foi apanhada, não sei como. E o avô dela, o príncipe Mohamed, irmão do rei Khaled, mandou matá-la por ter envergonhado a família. O rei Khaled aparentemente resistiu à ordem do irmão, mas este insistiu na morte da neta, e era ele o patriarca do clã. Não houve julgamento, segundo me disseram. Mish'al foi morta com seis tiros num parque de estacionamento. Um britânico que passava tirou fotografias e, para fúria do Governo saudita, a BBC planeava transmitir um documentário.
Fiquei completamente horrorizada. Pensei naquilo durante muito tempo. Um avô podia mandar matar a neta por ela se ter apaixonado, e ninguém conseguia evitar tal coisa.
Não se tratava sequer duma questão islâmica. Em certo sentido, era mais profunda. Com a ausência dum julgamento por um tribunal islâmico ou duma ordem dos imãs, a força interveniente naquele dramático e horroroso caso foi a antiga cultura beduína da Arábia Saudita - terríveis costumes selvagens que mantêm o seu poder sobre a sociedade até aos nossos dias.
Na cultura beduína, a lealdade ao clã é a única coisa com que pode contar-se. Os Beduínos viajam com pouca bagagem e a família é a âncora da tribo. As mulheres e os camelos são os únicos bens duma tribo beduína. A desumanidade é um valor positivo no deserto. E a honra, por razões que não consigo imaginar, não provém da compaixão ou das boas acções, centrando-se antes na absoluta posse das mulheres. Elas não são livres em qualquer aspecto - nem sequer para ter emoções, como o amor ou anseios. Uma mulher desobediente desonra o clã e é eliminada.
O meu primeiro pensamento, ao ouvir o que acontecera à princesa, foi para as minhas inocentes filhas. Aquilo podia um dia acontecer a Wafah ou a Najia. Um dos tios delas talvez fosse perfeitamente capaz de mandar matar uma sobrinha. E eu ficaria impotente para o evitar. Não há palavras que descrevam a cólera e o pânico renovado que senti naquele dia. Se a viagem em família para Taef fora o meu primeiro despertar para a realidade da Arábia Saudita, a morte da princesa Mish'al era com certeza o segundo.
Decidi festejar os aniversários de Wafah e Najia em conjunto, em Maio, sem fazer ideia dos inúmeros dilemas religiosos que essa simples e inocente decisão ia levantar. Comecei por telefonar a todas as minhas cunhadas, para convidar os filhos. Rafah foi a que ficou mais espantada.
- Nós nem sequer celebramos o aniversário do profeta Maomé! - insistiu ela. - Isso é coisa dos cristãos. O Natal é um aniversário.
- O que estás tu para aí a dizer? - respondi eu, incrédula. - Não se trata duma espécie de veneração por um ídolo. Só quero mostrar às minhas filhas que estou feliz por elas terem nascido. Estou a dizer-lhes: nasceram em tal dia e foi um dia feliz para mim. Nada tem a ver com ser ou não ser cristã.
Mas não a convenci. Para ela e para as outras, era uma questão de religião. E a religião delas era inabalável. Na Arábia Saudita - para os Bin Laden - festejar um aniversário é haram.
Pode ter sido uma questão trivial, mas aborreceu-me de verdade. Rafah e as outras estavam convencidas de serem as donas da verdade. Viam o Ocidente como uma cultura depravada e decadente à beira do colapso. Tornou-se importante para mim - talvez excessivamente - manter a minha posição. Não queria renunciar a toda a minha cultura só para agradar aos Bin Laden, e não ia privar as minhas filhas duma coisa tão básica como uma festa de anos. Yeslam concordou em deixar-me fazer a festa, e não era a primeira vez que os dois desafiávamos a tradição.
Decidi marcar o dia com outro projecto: enormes figuras de polistireno recortadas por mim. Seriam muito mais bonitas do que decorações de compra, e mostraria às minhas filhas que nem tudo precisa de ser comprado numa loja. Trabalhei durante semanas. Talvez por curiosidade, várias das minhas cunhadas apareceram e trouxeram os filhos. Todos brincaram e gritaram de alegria até tarde. Foi uma festa de conto de fadas.
Mas todos os anos, à medida que as crianças cresciam, foi-se tornando mais difícil convencer as mães a deixarem os filhos irem à festa. Apesar da minha amizade com Haifa, continuava a sentir-me sozinha. Vivia numa sociedade em que as mulheres nada eram e nada queriam ser. Não pareciam procurar as mudanças que eu esperava e desejava, de maneira que me sentia frustrada, rodeada por mulheres que não tinham vontade ou coragem para resistir. Possuíam inteligência e energia, muitas delas, mas só se expressavam pela religião. Viviam, mas só para a sua fé, e as suas personalidades eram completa-mente aniquiladas.
Eu era senhora da minha casa, mas havia dias em que também me sentia a sua principal habitante. Depois da chamada para a oração da noite, ao entardecer, ficava no terraço de mármore que mandáramos instalar e ouvia os milhares de aves que esvoaçavam por cima de nós a chamar-se umas às outras enquanto o enorme Sol cor de laranja mergulhava no deserto por detrás da casa. Faziam uma barulheira incrível, voando em nuvens escuras por cima do deserto, e praticamente nada mais havia para ver até muitos quilómetros de distância. Era um belo espectáculo, mas sempre, sempre o mesmo... totalmente vazio de imaginação, criatividade e verdadeiro companheirismo.
Os meses foram passando e eu comecei a perceber que aquelas vigílias silenciosas me davam uma pesada sensação de claustrofobia. As minhas filhinhas estavam dentro de casa, atrás de mim, mas a vida parecia-me por vezes tão árida e vazia como o deserto.
Os irmãos
Como competia à sua posição de décimo filho do xeque Mohamed, Yeslam ocupou um posto bastante inferior na Organização Bin Laden durante o nosso primeiro ano na Arábia Saudita. Contudo, para minha grande satisfação, depressa se tornou evidente para toda a gente que o seu talento estava a ser desperdiçado. Yeslam era muito mais inteligente e educado do que os irmãos, e a organização estava a obter resultados piores do que parecia. A companhia necessitava desesperadamente das capacidades de Yeslam.
Na altura, a Organização Bin Laden era ainda dirigida por uma assembleia de oito membros, nomeados pelo rei Faiçal depois da morte do xeque Mohamed para dirigirem a companhia no interesse dos jovens filhos de Mohamed. (Quando ele morreu, aos cinquenta e nove anos, só dois tinham chegado aos vinte e um anos.) A empresa era uma das maiores da Arábia Saudita e, como tal, merecia cuidados especiais. Além disso, o xeque Mohamed trabalhara para o pai do rei Faiçal, o lendário Abd el-Aziz, e para o seu irmão rei Saud, construindo a maior parte dos seus palácios e ajudando-os doutras maneiras. Criara assim um forte laço com a família real.
Os oito administradores, todos excelentes e respeitáveis senhores de idade, eram no entanto profundamente conservadores, mantendo-se adversos a correr riscos. Outras empresas de construção estavam a começar a crescer ao lado da Organização Bin Laden, que ia estagnando, algumas delas patrocinadas por poderosos príncipes. Dizia-se que essas firmas concorrentes tinham melhores contactos do que os Bin Laden, e na Arábia Saudita os contactos são tudo. Essas empresas, em comparação com a Organização Bin Laden, eram agressivas e poderosas, o que lhes permitia ganhar contratos para a esquerda e para a direita.
Entretanto, havia também problemas entre os irmãos. Salem era o filho mais velho do xeque Mohamed; o segundo filho, de outra mulher, chamava-se Ali. (Eu conhecera-o no Líbano.) Quando o xeque Mohamed mandou Salem para o estrangeiro para estudar, decidiu manter Ali na Arábia Saudita. Na altura da morte do pai, ambos eram legalmente adultos, e Salem resolveu ocupar o seu lugar de direito como dirigente masculino da família e da corporação. Ali, o segundo filho, mas que ficara ao lado do pai, achava que devia ser ele a ocupar esse lugar.
Durante anos, Ali contestou as decisões de Salem, e a rivalidade entre os dois irmãos não fazia qualquer bem à empresa. Por fim, Ali pediu autorização ao rei Faiçal para abandonar a Organização Bin Laden e a Arábia Saudita. Embora a pretensão de Ali de ser o verdadeiro sucessor do xeque Mohamed tivesse algum mérito, o rei concordou com a sua saída da empresa. Nem o rei Faiçal podia permitir que o poder do irmão mais velho fosse contestado. É nisso que assenta o sistema de clã da Arábia Saudita - a fundação da própria família real.
Assim, Ali foi autorizado a separar-se da Organização Bin Laden e da família. Os Bin Laden e os administradores calcularam o valor da empresa - coisa que nunca haviam feito, visto que os filhos e as respectivas mães queriam partilhá-la - e deram um milhão de dólares a Ali. Este foi para o Líbano, e Salem e o irmão mais novo, Bakr, substituíram-no.
A corporação dos Bin Laden detinha ainda o prestigioso e lucrativo contrato exclusivo para renovar Meca e Medina, mas noutros campos fraquejava. Yeslam começou a progredir lá dentro. Contratou dois funcionários do Citibank e decidiu restruturar a sede em Gidá. Criou departamentos, instituiu relatórios formais e processos de tomada de decisões, onde anteriormente existira consenso e infindáveis demoras. Foi ele o primeiro a introduzir computadores e, a pouco e pouco, ocupou-se das finanças da empresa, negociando empréstimos e investimentos com os principais consórcios bancários estrangeiros. Começou a trabalhar em sociedade com empresas como a General Motors e a Losinger, esta de nacionalidade suíça.
A Organização Bin Laden era propriedade conjunta dos herdeiros do xeque Mohamed, em termos bastante complexos. As quatro esposas ainda formalmente casadas com ele por ocasião da sua morte compartilhavam um oitavo da herança. Os outros sete oitavos passaram para os seus cinquenta e quatro filhos: quinhões completos para os filhos e metade para as filhas. (Como uma mulher banida não herdava directamente, os filhos sustentavam-na automaticamente.) A companhia era dirigida em comum - nem sequer uma parcela de terreno podia ser comprada ou vendida sem o acordo de todos - e nenhum dos irmãos, na altura, recebia salário. Cada filho ficava com um dividendo todos os anos: uma parte para os rapazes e meia para as raparigas. Na realidade, contudo, quem dirigia o espectáculo era o irmão mais velho, Salem, com o seu aliado Bakr.
Salem e Bakr eram filhos da mesma mãe. Oficialmente, não há meios-irmãos numa família saudita, embora existissem afinidades, grupos, por partilharem a mesma mãe, por serem da mesma idade ou por terem andado nos mesmos colégios. Quando os três factores eram comuns, como no caso de Salem e Bakr, o laço tornava-se ainda mais forte.
Os aliados naturais de Yeslam eram todos mais novos do que ele. E, como muitos dos homens mais jovens, irritava-se sob o controlo do irmão mais velho.
Uma noite, com tudo fechado, Yeslam levou-me a visitar os escritórios, cuidadosamente embiocada, claro, na minha abaya. O edifício ficava perto do quilómetro sete e parecia... não parecia nada. Em nada se assemelhava com uma importante empresa ocidental, habitualmente uma poderosa estrutura de vidro por fora e poder por dentro. Vi longos corredores, como num antigo liceu provinciano europeu, com pequenas salas nuas. Andava alguém a varrer - apenas a varrer, nem sequer a utilizar um aspirador -, de maneira que fui obrigada a meter-me no gabinete do meu marido. Era simples: uma mesa de madeira, chão sem tapetes e apenas três retratos com molduras baratas na parede: o rei Abd el-Aziz, o rei Faiçal e o rei Khaled. Completamente diferente do gabinete dum director numa das mais importantes empresas do Médio Oriente.
Os outros irmãos depressa compreenderam que as capacidades de Yeslam eram vitais. A sua estrela tornou-se mais brilhante, e o lugar dele passou a ser na sede em Gidá. Consultavam-no. Ele sabia de finanças e do Ocidente. Mas alguns dos irmãos mais velhos não gostaram do que estava a acontecer, porque a reputação de Yeslam começava a ensombrar a deles.
Para manter a sua posição, Yeslam precisava desesperada-mente de aliados poderosos. Hassan era um irmão mais velho muito competente, mas sem ligações naturais, visto que a mãe só tivera um filho. Hassan tornou-se aliado de Yeslam, apesar de o meu marido ser apenas o décimo em linha e ele o quinto.
As atitudes de lealdade mudavam constantemente, de acordo com disputas mudas e questões particulares. Se Ornar pretendia comprar um terreno, podia aliar-se temporariamente ao campo de Yeslam, por exemplo. Tratando-se duma corporação, estava recheada de políticas internas, mas era também uma família - e uma família cuidadosamente polida, onde nenhuma luta podia ser abertamente reconhecida.
O ambiente de tensão e sigilo era por vezes sufocante, e começou a pesar na disposição de Yeslam. Voltava-se cada vez mais para mim em busca de apoio e segurança, para lidar com a pressão dos irmãos. Precisava duma espécie de caixa de ressonância. Eu tornei-me a sua força e, entretanto, descobri que estava a ficar também sua conselheira de estratégias, sua analista, amontoando conhecimentos secretos do que se passava diariamente nos bastidores da corporação. Era um papel que eu aceitava de bom grado, porque me mantinha o espírito a funcionar e ajudava a sentir-me envolvida na construção do futuro da nossa família.
Yeslam era, nessa altura, o verdadeiro director financeiro da companhia, e muitos dos seus irmãos mais novos começaram a aparecer mais vezes na nossa casa à noite, para tomar chá no terraço ou para jantar e conversar. Eu comia com eles e ouvia. Como Yeslam não me mandava embora, eles aceitavam a minha presença silenciosa. Talvez não percebessem até que ponto eu já compreendia o árabe. Os mais religiosos entre os irmãos - Osama e outros - raramente nos visitavam, porque eu andava de cara descoberta. Quando apareciam, era obrigada a retirar-me para o quarto.
Aprendi a ficar calada. Se falasse, os irmãos calavam-se e Yeslam deitava-me um olhar especial por cima da borda do copo do chá. Aprendi a permanecer em silêncio, absorvendo conhecimentos. Muitos assuntos não eram expostos com clareza, mas eu entendia a mensagem subjacente. E, mais tarde, podia falar com Yeslam de tudo o que ouvira.
Instalada no meu terraço a beberricar chá, aquela roda de irmãos mais novos discutia negócios: decisões que planeavam tomar ou contra-ordens dadas por Salem e Bakr. Muitos deles sentiam-se frustrados pela falta de contacto com os príncipes da família al-Saud, que governava o país com poder total.
Cultivar uma relação com um príncipe benévolo e poderoso podia custar muito tempo e também dinheiro. Envolvia cortejá-lo virtualmente todas as noites, viajar com ele... e alguns dos al-Saud levavam uma enorme percentagem de cada importante contrato como divino direito inato. Mas os príncipes eram também os portões para o êxito, o prestígio e o poder.
Eu não queria que Yeslam ficasse sempre na décima posição, como uma peça duma máquina muito maior do que ele. Sabia que era um homem brilhante e competente, merecedor de mais do que isso. Mas, para se tornar independente - mais do que apenas um dos Bin Laden -, precisava dos seus próprios contactos com os al-Saud. E Salem e Bakr protegiam ciosamente esses entendimentos com os príncipes. Eram portas às quais uma pessoa não podia simplesmente ir bater.
Enquanto a nossa vida social se expandia graças às festas das quintas-feiras, íamos conhecendo muitas mais pessoas, geralmente estrangeiros que descobriam a extensão do seu isolamento em relação aos Sauditas e ao seu próprio estilo de vida ocidental. A minha amiga Ula Sebag, a sueca que perdera o filho de dois anos para o pai saudita, voltara a casar, com o americano de origem palestiniana que vivia na Arábia Saudita havia trinta anos. O marido, Issa, era um homem mais velho, de voz calma, que trabalhava como tradutor e conselheiro na Embaixada dos Estados Unidos, bem colocado no círculo do príncipe Majid, um dos muitos irmãos do rei. (Só nesse ramo da família real, houvera vinte esposas.)
Tal como todos os principais príncipes al-Saud, o príncipe Majid, um homem volumoso de tez pálida, recebia todas as noites no seu majlis, um vasto e régio aposento do seu palácio. Era uma espécie de corte de suplicantes, depois da oração da noite. Se não eram seus conhecidos pessoais, o príncipe limitava-se a cumprimentá-los e eles instalavam-se em qualquer canapé afastado. Os associados mais íntimos sentavam-se ao lado dele. Era assim o vínculo do poder.
Pessoas com bons contactos podem frequentar várias cortes principescas, como acontecia com Salem. Ele possuía diversos patrocinadores íntimos, entre eles o príncipe Salman, governador de Riade, e frequentava um majlis diferente praticamente todas as noites. Uma ocasião, Issa levou Yeslam para conhecer o príncipe Majid.
Nada de especial transpirou nessa noite - um pouco de conversa, uns copos de chá. As coisas decorrem com lentidão na Arábia Saudita, em passos simbólicos tão infinitesimais que um estranho pode nem dar por eles. Mas depressa se estabeleceu um padrão. Yeslam ficou íntimo do príncipe Majid e depois doutros príncipes também. Estava a tornar-se um dos homens que se sentavam ao lado do poder, e que conversava com outros homens também instalados perto do poder. Era um subtil jogo de influências e gestos que tinham um enorme impacte na estatura de Yeslam.
Mais tarde, quando Issa Sebag se reformou, veio ver-nos. Perdera a sua posição junto dos príncipes, mas tinha um pedido administrativo a fazer e solicitou a Yeslam que o levasse como parte do seu grupo. Yeslam concordou mas, dia após dia, evitava-o antes de se dirigir para o palácio. Um dia, enfrentei-o:
- O Issa ajudou-te quando precisaste dele.
Mas Yeslam recusou-se a ouvir-me.
- Ninguém me ajudou - respondeu-me ele num tom imperioso. - Eu sou um Bin Laden!
Isso, porém, passou-se muitos anos depois. A medida que Yeslam ia consolidando a sua posição na Organização Bin Laden, as discussões no meu terraço tornavam-se mais acaloradas. Ele estava de facto a dirigir a empresa mas, apesar de ganharem novos grandes contratos, Salem e Bakr não viam com bons olhos a ascensão do irmão. Uma manhã, Bakr ligou para um dos principais bancos para discutir um empréstimo - umas centenas de milhões de riales - para um novo projecto. O banqueiro insensatamente perguntou:
- O xeque Yeslam está ao corrente disso? Bakr sentiu-se insultado. Fora humilhado.
Salem e Bakr começaram a dar contra-ordens às decisões de Yeslam, a reivindicar o crédito dos seus projectos, e a sabotar e a criticar os seus empregados principais. Recusavam à última hora acordos que ele negociara, envergonhando-o. Então, Hassan, bom homem de negócios mas viciado no jogo, perdeu uma fortuna num casino de Londres e telefonou a pedir ajuda. Salem e Bakr pagaram as dívidas do irmão e, quando ele voltou para a Arábia Saudita, Yeslam achou-o desinteressado. Mudara de campo.
Yeslam firmou um novo contrato para construir a Bin Laden Plaza na baixa de Gidá. Era um arranha-céus espectacular, nesse tempo de longe o edifício mais alto da cidade, e cuja construção custaria centenas de milhões de dólares. Fizemos bastantes viagens a Paris por esses dias, pois Yeslam é que negociou o contrato e assinou os acordos. Passámos semanas no elegante Hotel Jorge V, e lembro-me de ficar sentada em cima da cama a ler os contratos até tarde.
Para a Organização Bin Laden, era um fantástico golpe financeiro. O projecto ia ser inteiramente financiado por empréstimos de bancos franceses e garantido pelo Governo francês. A empresa apenas entrava com o terreno. Quando o prédio todo foi alugado à Saudia, a companhia aérea nacional, os franceses recuperaram rapidamente o seu investimento, e a Organização Bin Laden fez subsequentemente uma fortuna como dona do que era essencialmente um prédio grátis.
É claro que isto nunca poderia ter acontecido noutro país, os franceses teriam muito simplesmente comprado o . Mas, na Arábia Saudita, os estrangeiros não podem se proprietários. Aliás, nem sequer são autorizados a efectuar negócios sem um sócio saudita. O solo sagrado não pode ser conspurcado por não crentes.
Eu sentia-me muito orgulhosa do que Yeslam conseguira aquele projecto, mas noticiaram o assunto nos jornais ditas, o crédito foi todo para o pretensioso Bakr.
Vi perfeitamente que aquilo magoava Yeslam, mas em ocasiões semelhantes ele recuava sempre. Nunca confrontou Salem e Bakr pelo que lhe faziam, embora cada vez gostasse menos deles. Queixava-se-me da duplicidade dos irmãos, mas nunca deu um passo para se proteger.
O confronto não entra nos hábitos sauditas. À superfície, tudo é calmo - particularmente dentro dos clãs. Existe ganância e existem lutas pelo poder e pelas honras - mesmo dentro da família real. Mas a secreta realidade do dia-a-dia é irmão contra irmão, porque mesmo na Arábia Saudita a natureza humana leva os indivíduos a afirmar a sua personalidade e ambição.
Num sentido mais profundo, contudo, compartilhavam um condicionamento social, e as convicções vaabitas significam que os membros de um clã saudita apoiar-se-ão sempre aos outros. O destino dum indivíduo nunca é mais im-
portante do que os valores religiosos compartilhados. Para um saudita, é impossível fugir às tradições dos seus antepassados.
1979
A mudança instalara-se finalmente na Arábia Saudita, pensei eu no dia de Ano Novo em 1979. Nos meus três anos no país, erguera-se uma nova cidade nas poeirentas estradas de terra batida da velha Gidá medieval. Os melhoramentos iam aparecendo: o camião dos Bin Laden já não enchia a nossa cisterna de dois em dois ou três em três dias. As minhas filhas estavam felizes. Eu tinha em Haifa uma amiga e uma companheira. Yeslam adorava-me e, profissionalmente, o seu raio de acção e poder aumentava a olhos vistos. Algumas jovens arriscavam-se até a passear pelos centros comerciais de cara descoberta. O futuro só podia trazer-me coisas boas.
Como podia eu saber quantos passos atrás o Médio Oriente se preparava rapidamente para dar? Nos meses seguintes, uma revolta contra o xá no Irão ia provocar uma onda de choque na região e dar um novo impulso aos tradicionalistas que lutavam contra qualquer tentativa para conduzir o Médio Oriente ao mundo moderno. O islão ia adquirir uma dimensão completamente nova e modificar o panorama do mundo inteiro. Nada voltaria a ser igual.
Nem mesmo os servis jornais sauditas conseguiram proteger-nos das notícias do que acontecia no Irão. Rebentara uma revolução, e o xá Reza Pahlavi fora obrigado a abandonar o país em Dezembro. Uma estranha aliança de liberais influenciados pelo Ocidente e fundamentalistas fanáticos exigia o poder popular. Em Fevereiro, o aiatola Khomeini deixou o exílio em França e chegou a Teerão, onde foi recebido por inacreditáveis multidões de milhões de simpatizantes. Então os homens de Khomeini começaram a atacar os liberais ocidentali-zados que os haviam ajudado. Impuseram o uso do veu nas mulheres que anteriormente caminhavam livremente pelas ruas sem ele. O comércio começou a sofrer uma «reforma» islâmica. E toda a gente no Médio Oriente sentiu o súbito e sinistro vento da mudança.
Nas nossas reuniões de quinta-feira, os diplomatas e os outros estrangeiros não falavam doutra coisa- Toda a gente estava ansiosa por notícias, e eu contava-me entre os felizardos, porque as minhas irmãs me mandavam semanalmente da Europa jornais e revistas. Sentia-me esmagada pelo que estava a acontecer no Irão - a pátria da minha mãe a ser transformada por um renascer da Idade Média. Atirava-se acido a cara das mulheres que se pintavam. Milhares de pessoas eram presas e mortas. Khomeini criticava a monarquia saudita, afirmando que não podia haver reis no islão.
Percebi que o espectro da revolução tornava Yeslam e os irmãos nervosos, e também eu comecei a ficar ansiosa. Se a monarquia pudera ser deposta no Irão - se as livres mulheres iranianas podiam tão rapidamente ser obrigadas a voltar ao chador e sofrer perversos ataques da polícia religiosa nas ruas - então que poderia acontecer na Arábia Saudita.
Também me preocupava pelas pessoas que conhecia no Irão. A minha mãe estava em segurança, na Europa embora me parecesse cada vez mais frágil A maior parte da família já emigrara, sobretudo para os Estados Unidos. Mas inúmeros amigos e conhecidos viviam ainda no Irão, e era difícil obter notícias. Só podíamos imaginar o pior.
No íntimo, ainda pensava que, se alguma vez houvesse uma revolução na Arábia Saudita, eu conseguiria fugir Como estrangeira e membro da família Bin Laden, seria uma das primeiras pessoas a poder sair. Esse era o verdadeiro luxo da minha posição, não os vestidos Chanel e os brincos de esmeraldas. Possuíamos o peso necessário para sair, se fosse preciso: o poder e a posição para fugir às inspecções da polícia religiosa, evitar a prisão ou sair do país.
A Organização Bin Laden era dona duma boa quantidade de aviões, e, se um Bin Laden quisesse um lugar num aparelho, ocupava-o. Como a empresa era a única autorizada a trabalhar em Meca, a posição da família era muito mais elevada do que a dos outros clãs de comerciantes. Mesmo que um avião estivesse completamente cheio, os Bin Laden conseguiam sempre um lugar. Muitas vezes vi isso acontecer. Portanto, em caso de problema, certamente que conseguiríamos abandonar o país de avião.
Por isso, embora tensa - o que era inevitável -, não me sentia directamente ameaçada. E os príncipes al-Saud que governavam o país deviam estar muito mais assustados do que eu. Esses tinham tudo a perder, já que a revolução de Khomeini era um ataque directo ao seu governo. A influência das ideias religiosas de linha dura tornava-se constantemente visível nas ruas, com as insignificantes mudanças que tanta esperança duma futura liberdade me haviam dado a desfazerem-se e a família real em pânico, tentando acalmar os fundamenta-listas.
Mais ideias extremistas de comportamento religioso se implantaram com uma rapidez que me deixou atordoada. No sul, apareceram avisos dos perigos de vestimenta imprópria. Nas mesquitas, exigia-se mais restrições sobre os costumes sociais, e todos os dias mais mulheres retomavam o véu a tapar o rosto. Apesar do calor sufocante, calçavam grossas meias pretas sob as abayas, para tapar os poucos centímetros de pés e tornozelos que pudessem aparecer ao andar. Muitas, como Najwah, a mulher de Osama, e as minhas cunhadas Rafah e Sheikha, começaram a usar luvas. A polícia religiosa - a mu-tawa - brandia grossos bastões, como no Irão, vigiando a nossa conduta e às vezes batia nas mulheres na rua.
De repente, comecei a notar pequenas coisas, como se a sociedade estivesse a andar para trás. Uma tarde, no supermercado, uma mulher grávida desmaiou, e o marido correu para a ajudar. Mas a mutawa estava lá e impediu-o, aos gritos: não podia tocar na mulher em público.
Se a chamada para a oração soava quando andávamos nas compras, não podíamos continuar nas lojas, como anteriormente, enquanto os homens saíam para rezar, porque os lojistas tinham medo e colocavam rapidamente os taipais.
A mutawa gritava connosco nas ruas:
- Tu, mulher, o que é que estás a fazer?
Os gritos aplicavam-se a uma mão à mostra ou a uma abaya demasiado levantada. Abdou, o meu motorista sudanês, protegia-me sempre, exclamando:
- Bin Laden!
Apesar de tudo, a integridade religiosa duma mulher Bin Laden não podia ser questionada. Mas eu comecei a ter medo.
A mutawa entrava nas casas e partia aparelhagens de alta-fidelidade. Se encontravam bebidas alcoólicas, levavam os homens para a cadeia e espancavam-nos. Proibiram a venda de bonecas para as crianças, e elas tornaram-se contrabando, tal como o uísque, por serem imagens humanas. De repente, as únicas bonecas à venda eram figuras sem forma nem cara, como a de Aisha, a criança-esposa do profecta Maomé no século vii Mas estávamos em 1979!
Era impossível discutir tais assuntos com as mulheres Bin Laden. Em primeiro lugar, porque nunca violariam as regras. Para elas, a mutawa limitava-se a fazer o seu trabalho, um trabalho digno e justo. Com certeza que ser-se demasiado estrito religiosamente era coisa que não existia. Mas os estrangeiros viam bem que a mutawa se tornara muito mais severa e assustadora.
Uma vez, insisti em conversar sobre esse assunto com a minha cunhada Rafah. Estávamos a falar do véu, e eu disse-lhe que o achava desnecessário e insultante - insultante para os homens sauditas. Eram realmente tão fracos e obcecados com o sexo que se sentiam tentados a pecar apenas por vislumbrar a cara duma mulher? Rafah olhou para mim como se eu estivesse a falar grego antigo, e vi na expressão dela «pobre estrangeira ignorante». Pura e simplesmente, não conseguia comunicar com ela.
Mas quem me assustava mais eram os jovens. Eles deviam conduzir o país para diante, para fora da Idade Média, para o mundo moderno. E, no entanto, via-os semana a semana recuar séculos. Via as luvas, as meias pretas e as caras zangadas, ouvia as exigências de mais restrições. Certamente que não podia ser verdade os jovens ansiarem por um retrocesso. Quem
podia acreditar em tal coisa? Mas era o que estava a acontecer no Irão.
Sentia-me presa. Cada uma das mudanças que eu recebera com alegria parecia ter sido temporária. Cada pequena abertura durara apenas uns instantes. Os Sauditas haviam aberto as portas ao mundo durante uns anos. Agora, pareciam começar a regressar aos seus valores e tradições.
Nesse Verão, fomos aos Estados Unidos, em parte numa viagem de negócios de Yeslam, mas sobretudo porque eu precisava da segurança e do carinho da minha amiga Mary Mar-tha. Ela ficou encantada por me ver, depois dos meses de terrível agitação, e eu senti um enorme alívio por estar de novo na América. Mas, na véspera do dia marcado para irmos de Los Angeles a Saint Louis, onde Yeslam tinha reuniões, ela telefonou-me, lavada em lágrimas. Jimmy, o irmão dela, desaparecera aos comandos do seu avião entre o Arizona e a Califórnia. Decorria uma busca, e ela ia voar para o Arizona para estar com os pais.
Não podia abandonar Mary Martha numa altura daquelas. Insisti em que devíamos ficar com ela, e Yeslam organizou tudo. Quando Mary Martha e eu chegámos ao Arizona, ele já alugara dois aviões e co-pilotava um deles, à procura de Jimmy. Não sei quantos aviões se mantiveram no ar, da alvorada ao crepúsculo, até que os destroços do avião de Jimmy foram encontrados, cinco dias mais tarde. Yeslam estava tenso e cansado. Não quis falar. Só então me lembrei de que o seu próprio pai morrera num desastre de avião, quando ele tinha apenas dezassete anos.
Sofri com Mary Martha e toda a família Berkley, mas precisávamos de voltar, por causa dos negócios de Yeslam. Regressámos à Arábia Saudita, com o coração pesado e sem conseguir falar. Fora um Verão terrível.
A Arábia Saudita parecia totalmente hipnotizada pelo vulcão político no Irão e com a sua lava a correr pelo Médio Oriente. Não se falava doutra coisa. Um dos convidados ocasionais, John Limbert, um diplomata americano, jogou ténis connosco numa noite de quinta-feira em Outubro, e disse-nos que ia para o Irão no dia seguinte. Uns dias depois, tornou-se refém na Embaixada dos Estados Unidos em Teerão, ele e dúzias de outros, exibidos na televisão para demonstrar a poderosa vingança islâmica sobre os ateus americanos. John esteve no grupo de cinquenta e dois reféns em cativeiro durante quatrocentos e quarenta e quatro dias. Lois West tentou confortar a mulher dele, Parvanai, durante esse período terrível, que nos deixou a todos abalados.
Então, numa manhã de Novembro, Yeslam apareceu em casa de repente, pálido e agitado. As suas palavras foram:
- Meca foi ocupada!
Centenas de extremistas islâmicos haviam entrado pela Grande Mesquita adentro e controlavam o lugar mais sagrado do Islão. Da torre, o seu chefe fazia declarações incendiárias sobre a corrupção e a vida dissoluta de todos os al-Saud - particularmente o príncipe Nayef, governador de Meca, cujas bebedeiras de uísque eram do conhecimento comum. As forças extremistas tinham-se infiltrado em Meca utilizando camiões da Organização Bin Laden, que nunca eram revistados.
Devemos ter sido os primeiros a saber. Os Bin Laden mantinham um quadro permanente de funcionários num gabinete de manutenção em Meca. Assim que os rebeldes invadiram a Grande Mesquita, um funcionário dos Bin Laden telefonou para a sede em Gidá, anunciando que rebentara a violência. Logo a seguir, as linhas telefónicas foram cortadas. Por incrível que pareça, foi a Organização Bin Laden que informou o rei Khaled de que rebentara uma revolução na cidade mais sagrada do islão.
Uma das primeiras decisões do rei foi cortar todas as linhas telefónicas. Eu quis telefonar à minha mãe, para a sossegar, mas foi impossível. Os jornais não se atreveram a dar a notícia durante alguns dias. Mas o boato espalhou-se, claro, começaram os tumultos, e o tráfego aéreo foi interrompido.
A nossa casa enchia-se e esvaziava-se, num frenesi de movimento em ondas de irmãos a entrar e sair com as últimas notícias. Yeslam estava frenético, correndo de casa para o escritório, totalmente descontrolado. Os Bin Laden possuíam os únicos mapas pormenorizados de Meca, sobretudo da Grande Mesquita. Salem ficou com os príncipes dia e noite. Após dias de discussões e tentativas de negociar com os extremistas, elaboraram plano sobre plano para um assalto militar à mesquita tomada pelos extremistas, mas todos falharam.
Então, Yeslam disse-me que Mahrouz, um dos seus irmãos, fora preso na estrada, ao vir de carro de Meca para Gi-dá, e que a polícia encontrara uma pistola no carro. Ora Mahrouz era um homem profundamente religioso, apesar dos seus anos de playboy. Usava o tobe curto, como Mafouz, o irmão colaço de Yeslam, para mostrar os tornozelos e demonstrar a sua completa simplicidade. Para além disso, para mim era apenas mais um dos irmãos do meu marido. Estaria ele realmente envolvido numa conspiração contra os al-Saud?
Finalmente, foram chamados os famosos pára-quedistas franceses. Infiltraram-se na cave da mesquita, matando muitos dos extremistas. (Passando primeiro pela mais rápida conversão ao islão deste mundo para poderem aproximar-se do edifício.) Num país sem jornalismo, os boatos ferviam: os franceses tinham electrocutado os rebeldes; não haviam sido os franceses, afinal; os rebeldes não estavam capturados. E então dúzias de homens começaram a ser executados em público, por todo o país.
Mahrouz foi libertado. Circulavam rumores de que ele era de facto um membro-chave dos grupos extremistas e os ajudara a capturar os camiões dos Bin Laden. As pessoas diziam que ele era o único suspeito a ser libertado. Mas os Bin Laden nunca mais falaram dessa prisão. A família vivia discretamente, mas possuía o poder necessário para salvar os seus membros.
Apesar disso, já não me sentia segura no meu perfeito aquário. Ninguém na Arábia Saudita dormiu descansado nessas longas semanas de tensão.
No princípio de Dezembro, ouvimos dizer que a violência rebentara em Qatif, na costa oriental, com distúrbios e muitas mortes. Era uma região habitada por uma pequena minoria de muçulmanos não vaabitas, injuriados por todo o lado, xiitas como a maioria dos iranianos. Talvez influenciados pela revolução de Khomeini no Irão, os xiitas apareceram nas ruas em número invulgar para a sua procissão comemorativa da morte de Hussein, neto do profeta Maomé. A polícia religiosa resolveu intervir, segundo soubemos, e desconhecia-se quantas pessoas haviam morrido. A rebelião durou vários dias. O pânico de Yeslam aumentou e, embora eu tentasse acalmá-lo, também estava muito assustada. Que seria de nós todos?
E depois, três semanas após a revolta em Meca, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Os acontecimentos pareciam cercar-nos. Já abalados pela revolução vizinha e uma espectacular rebelião interna e enredados em crescente radicalismo no seu próprio país, os Sauditas viam agora os tanques soviéticos rolar através doutra nação próxima.
O agressivo e ateísta monólito comunista atacava um país de pobres e dignos muçulmanos. Os príncipes al-Saud ficaram abalados, como toda a gente no mundo muçulmano. Após umas semanas de inactividade, os príncipes decidiram que precisavam de demonstrar que se preocupavam realmente com os seus companheiros muçulmanos, financiando a resistência afegã.
Yeslam disse-me que estavam a fazer saber nas mesquitas que as pessoas deviam dar dinheiro, equipamento e roupa usada para os afegãos que lutavam contra os soldados soviéticos e para os refugiados que começavam a fugir. O governo anunciou que daria importante ajuda financeira a voluntários dispostos a ir para o Afeganistão apoiar os seus bravos irmãos muçulmanos.
Entre esses voluntários, encontrava-se o meu cunhado Osama.
Osama acabava de se formar quando adoptou a causa dos Afegãos. Foi para lá rapidamente, sem qualquer festa de despedida. Magro, com a sua grande estatura e as suas inflexíveis opiniões, era uma figura pitoresca, mas não parecia a melhor escolha para uma posição de chefia na resistência afegã. No entanto, começou a fazer frequentes e longas viagens ao Paquistão, ajudando na logística de canalizar a ajuda saudita para os voluntários e na instalação de clínicas e bases de treino no Paquistão. Em breve estava a viver lá todo o ano, cada vez mais implicado na luta afegã.
Depois, começou a mover-se dentro do próprio Paquistão. Segundo as irmãs, que falavam dele com um misto de medo e
admiração, Osama estava a tornar-se uma figura-chave na luta contra o monólito soviético. Importava maquinaria pesada e manipulava equipamento para abrir túneis por todo o Afeganistão destinados a abrigar hospitais de campanha para os combatentes e armazenar armas e munições. Construiu trincheiras para proteger o avanço dos guerreiros afegãos no ataque a bases soviéticas. Ouvimos mesmo dizer que Osama entrava em combates corpo a corpo.
Osama estava a adquirir uma boa reputação. Já não era só o décimo sexto ou décimo sétimo irmão Bin Laden. Era admirado, estava envolvido numa causa nobre. Osama era um combatente - um herói saudita.
Juntamente com todas as outras pessoas na Arábia Saudita, Yeslam e eu contribuímos materialmente para a luta afegá contra os tanques soviéticos: embalámos toda a roupa de que não precisávamos e enviámos dinheiro.
Osama não era o único membro da família cuja ligação ao islão se tornava mais evidente. Algumas das minhas cunhadas que eu sempre considerara aborrecidas e submissas surpreenderam-me com o seu activismo quando se tratava de defender os valores islâmicos. Sheikha, uma das irmãs mais velhas de Yeslam, chegou mesmo a ir ao Afeganistão distribuir uma grande remessa de ajuda aos necessitados. Seguiu com uma comitiva, claro, e não viu combates, mas fui obrigada a admitir que ela não se limitava a murmurar o Alcorão e a definir o comportamento correcto - era suficientemente corajosa para agir.
No Afeganistão, como em todas as guerras, as mulheres suportavam o pior da carga. O país era um autêntico pesadelo para uma mãe: todas aquelas jovens mulheres e crianças a fugir para campos de refugiados, sentados à chuva, desamparadas, conduzidas em manada como animais por homens brutais. Era terrível, e o pior ainda estava para vir, quando anos mais tarde os fundamentalistas talibãs tomaram o poder.
1979 foi um ponto de viragem para todo o mundo islâmico. Para mim, foi como se um forte foco luminoso tivesse começado a incidir sobre a minha existência. Mais vivamente do que nunca, percebi que estava a viver numa frágil bolha, rodeada por uma cultura estranha sujeita a súbitas explosões de violência.
Era ainda muito nova, na casa dos vinte, e casara cinco anos antes. No entanto, pesavam sobre mim inúmeras respon-sabilidades e preocupações. Era imperativo proteger as minhas filhas. A saúde da minha mãe deteriorara-se, e as notícias da situação no Irão pareciam tê-la desestabilizado emocionalmente. Recusou os meus convites para visitar Gidá, e eu sentia-me incapaz de deixar a Arábia Saudita.
Entretanto, Yeslam continuava agitado e receoso. Começou a ter pesadelos e a acordar-me durante a noite para jogar ao gamão para acalmar. Procurei sossegá-lo, mas, enquanto o mundo fora das paredes da nossa casa parecia por vezes desmoronar-se por completo, via o meu marido transformar-se num desconhecido agitado e infantil.
Yeslam
Algo de muito estranho estava a passar-se com o meu marido, percebi finalmente. Sempre nervoso, com pesadelos, tudo lhe metia medo - morrer, sobretudo. Começou a apresentar vários sintomas físicos que deram origem a infindáveis exames e consultas médicas, mas que nunca tiveram qualquer resultado preciso. Queixava-se de dores de barriga, dificuldade em respirar, repentinos suores frios e pânico.
Desde a revolta de Meca que Yeslam não era realmente feliz, pensei para comigo. Ao princípio, imaginei que a causa fosse a situação política na Arábia Saudita, primeiro o choque de 1979 e depois o imprevisível ricochete que fez o país afastar-se rapidamente do caminho que eu pensara que iria escolher.
O dinheiro modificara imenso a Arábia Saudita. Mas essas súbitas mudanças foram apenas superficiais. O dinheiro comprava muitas coisas, mas não passavam de coisas e não traziam com elas mudanças de ideias. Os novos edifícios, as casas maiores, as enormes lojas modernas e as férias na Europa eram coisas que não pareciam conduzir à liberdade.
O dinheiro puxava a Arábia Saudita para o mundo moderno, mas a rígida cultura, puritana e arrogante, puxava-a de volta às suas restrições extremistas e tradicionais.
Os muçulmanos vaabitas acreditam que a verdade está na leitura literal do Alcorão. Ninguém pode presumir adaptá-lo aos tempos modernos. O seu código é rigoroso e regula tudo. Os vaabitas vivem a olhar para trás, por um espelho retrovisor, para a época de Maomé. Após alguns anos mergulhados na sua recente riqueza, os Sauditas não pareciam intimamente dispostos a mudar.
Talvez se desenrolasse uma luta semelhante no interior do meu marido. Estava sob uma tensão cada vez maior. Quando Salem e Bakr começaram a manipular a Organização Bin La-den contra ele, fui a primeira a encorajá-lo a impor-se. Uma mulher mais humilde - uma mulher saudita - ter-lhe-ia dito:
- Ma 'alesh, é a vida.
Tê-lo-ia convencido de que devia ficar na posição que Deus lhe destinara, a de décimo filho. Yeslam podia ter-se submetido aos seus dois irmãos mais velhos, menos competentes, refugiando-se na religião e na tradição. Mas eu não era esse tipo de mulher e não podia permitir que isso acontecesse. Não queria vê-lo ceder e submeter-se.
Sou uma pessoa lutadora, e encorajei Yeslam a lutar. Instei-o a enfrentar os irmãos e a mudar as coisas. Disse-lhe que ele era o mais inteligente e o melhor dos irmãos. Assustava-me a ideia de o meu marido se submeter àquela sociedade, se contentar com a posição inferior de décimo filho numa família onde nada mudava. Precisava que ele ajudasse a Arábia Saudita a evoluir, por mim e pelas nossas filhas. Sozinha, nada podia mudar, porque na Arábia Saudita era impossível uma mulher, e ainda por cima estrangeira, conseguir alguma coisa.
Só Yeslam, com a sua inteligência e o seu poder, podia dar-me esperança de que o país ainda conseguisse fazer as mudanças cruciais que nos trouxessem a liberdade. Talvez uma esposa saudita tivesse dado mais paz de espírito a Yeslam. Mas eu não podia aceitar a sua fraqueza. E, para ser franca, também eu estava em pânico.
Incitei Yeslam para que se estabelecesse por conta própria. Em 1980, deixou de ir ao escritório. Instalou uma corretora em Gidá e uma grande empresa financeira na Suíça, contratando pessoal altamente habilitado para investir em nome dos comerciantes sauditas que haviam enriquecido recentemente. Foi um êxito, o que se tornou claro de imediato. Os empreendimentos de Yeslam iam obter excelentes resultados. Senti-me envaidecida e disse-lhe:
- Vais ver: o Salem e o Bakr hão-de implorar-te que voltes! E fizeram-no, com a oferta dum salário para voltar para o Grupo Bin Laden, a primeira vez em que um membro da família receberia dinheiro para além do dividendo anual.
Nessa altura, Yeslam começava a valer uma quantia de dinheiro verdadeiramente enorme. Quando o conheci, a parte que lhe competia na Organização Bin Laden não devia valer mais do que quinze milhões de dólares, quase todos empatados no negócio e que nunca me pareceram reais.
Agora, ao contrário, com a Organização Bin Laden florescente e o seu próprio negócio de vento em popa, o valor pessoal do meu marido subira para qualquer coisa como trezentos milhões de dólares. Era um dos irmãos mais ricos, tão rico como Salem e Bakr.
Em termos práticos, isso não fez grande diferença nas nossas vidas. Continuámos a voar nas linhas aéreas comerciais. Nunca comprei grandes quantidades de roupa de alta costura. Mas sabia que estávamos a ficar extremamente ricos, e sentia que era uma coisa de que Yeslam podia orgulhar-se.
Mas ele não estava feliz, apesar do evidente êxito nos negócios, tanto independentes como familiares. Trabalhava mais, passando longas manhãs na sede da Organização Bin Laden e indo depois para o seu escritório após a oração da noite, onde ficava por vezes até às nove ou dez horas. Entre os irmãos, a rivalidade e as questiúnculas continuaram, bem como os golpes baixos que iam minando o ego de Yeslam.
A superfície, o seu relacionamento com a família mantinha-se cortês, mas eu sabia que as coisas estavam tensas com os irmãos. Um dia, Yeslam disse-me:
- O Salah vinha cá a casa a toda a hora. Agora, quando o Bakr lava as mãos, ele está lá a estender-lhe a toalha.
Os conspiradores entravam em acção, a murmurar contra ele. Ao tornar-se independente, elevando-se acima da sua posição, Yeslam cometera uma infracção quase imperdoável ao código social tradicional.
Não fora só eu a empurrar Yeslam para se libertar das convenções sociais. Ele também era ambicioso. Reagira positivamente ao meu encorajamento porque era a direcção em que ele próprio queria crescer. Yeslam vivera no Ocidente, conhecera uma cultura que aceitava que uma pessoa fizesse alguma coisa por si própria. Mas, para isso, é necessário pensar e agir como um ocidental. E Yeslam era saudita.
Se ele tivesse sido encorajado em criança, estou convencida de que os seus talentos podiam realmente ter aparecido. Mas a mãe dele era uma pessoa fatalista. Uma das suas frases preferidas era: «É a vontade de Deus.»
Tentei dar-lhe a força da qual achei que precisava. Mas as contradições da sua cultura não o largavam. Um saudita um Bin Laden - não pode enfrentar os irmãos e separar-se deles, nos negócios ou em outro campo qualquer. Por isso, embora parte de Yeslam desejasse realizar as suas ambições individuais, como qualquer homem ocidental, outra parte precisava de se manter submissa, de ocupar o espaço a ele destinado na sua cultura regida pela tradição.
Assim, Yeslam sentia-se dividido entre dois impulsos totalmente irreconciliáveis: as modernas ambições ocidentais encorajadas pela sua vida no estrangeiro e a imobilidade tradicionalista do estilo de vida saudita. Agora percebo que era assim. Mas na altura só via o seu mal-estar físico e uma nova fraqueza que afastava o meu marido de mim.
Yeslam consultou toda a espécie de especialistas no estrangeiro, porque os médicos sauditas o enervavam. Pensei que um psiquiatra pudesse ajudá-lo a resolver os problemas que começaram a parecer-me mais psíquicos do que físicos, mas ele recusou-se a consultar um.
Tentei acalmar-lhe os receios e as suas ansiedades. Entreguei-me a incontáveis jogos de gamão durante a noite, quando ele não conseguia dormir. A certa altura, descobri um médico ocidental em Gidá com quem ele se sentiu à vontade. Mat-thias Kalina era o director do hospital militar. Ele e a mulher, Sabine, tornaram-se grandes amigos nossos. Na realidade, até anos depois, quando se mudaram para o Canadá, Yeslam mandava buscar o Dr. Kalina para ir à Suíça avaliar a sua saúde. O Dr. Kalina receitou-lhe Temesta para acalmar a tensão nervosa, mas Yeslam cortava os comprimidos em pedacinhos minúsculos e engolia só um de cada vez... e o medicamento não produzia o efeito devido.
Começou a ter medo de voar, de maneira que eu o acompanhava para todo o lado, marcando viagens durante as férias escolares das garotas, para elas poderem ir connosco. (Nunca as deixei sozinhas na Arábia Saudita, nem por um fim-de-semana.) Detestava multidões. Um Verão, fomos a Los Angeles e ficámos em casa de Ibrahim. Nas seis semanas que lá passámos, tirando as habituais visitas aos médicos, devemos ter saído de casa três vezes.
Yeslam estava a tornar-se um estranho para mim. Amava-o muito e confiava tanto nele que tentava não olhar directamente para a realidade do seu estado. Precisava que ele continuasse a ser um homem inteligente e emancipado com quem casara. Sentia saudades do pai meigo e atento e do marido carinhoso que conhecera. Muito simplesmente, não conseguia lidar com a realidade daquele estranho, petulante e assustado. Tentei persuadir-me de que aquilo era uma fase, uma coisa temporária.
Acho que só eu conseguia ver que alguma coisa não estava bem. O meu marido era especialista em manter uma faceta exterior perfeitamente imperturbável. Mas, na realidade, ele sofria dum esgotamento nervoso.
Tudo isso me levou a um marco pessoal da minha própria vida. No Verão de 1981, durante as férias familiares em Genebra, percebi que estava novamente grávida. Ao princípio, senti-me contentíssima. Talvez não fosse uma reacção muito racional, devido aos meus antecedentes, mas convenci-me de que, por fim, ia ter um filho.
Quando fui a correr dar a boa notícia a Yeslam, à espera de que ficasse tão contente como eu, vi-lhe uma estranha expressão, uma expressão que nunca vira. Então, disse-me que sempre quisera apenas dois filhos, que mal estava a recuperar da doença e não podia enfrentar a ideia doutra criança. Pediu-me que fizesse um aborto.
Senti-me entorpecida. A minha energia foi substituída por uma grande desorientação. Queria ajudar Yeslam e pensava que um homem não deve ser obrigado a ser pai, se ele não quiser. A reacção do meu marido foi tão forte, tão peremptória, que cheguei a pensar que ele guardaria sempre rancor à criança se eu levasse a gravidez por diante. Sobretudo se essa criança fosse outra rapariga.
Apesar do muito que queria àquela criança, concordei com o aborto.
Voltámos para a Arábia Saudita. Pensei que podia pôr aquilo para trás das costas, mas cavara um buraco moral para mim própria e nunca seria verdadeiramente capaz de sair dele. Comecei a ter pesadelos em que Wafah e Najia me eram tiradas. Eu destruíra uma criança e já não merecia ser mãe.
A vida era escura, nessa altura, e eu senti que tinha feito uma coisa terrível.
Estava zangada comigo própria, por não ter tido a força moral suficiente para me impor a Yeslam. Fizera tudo por ele, mas agora achava que ele me pedira uma coisa insuportável, algo que nunca devia ter-me pedido que fizesse. Yeslam portara-se com incrível egoísmo. E depois, quando era visível que eu sofria horrivelmente com a decisão que ele me pedira que tomasse, agia como se nada de importante se tivesse passado. Como se se tratasse dum dente arrancado. Mas eu sabia que o que acabava de fazer era uma coisa incomensuravelmente mais horrível. Abandonara o meu filho por nascer, e o meu marido abandonara-nos, a todos.
Passámos por uma fase muito má. Eu sentia-me terrivelmente em baixo. Olhando para trás, percebo que estava deprimida. Embora tentasse construir uma vida normal em conjunto, por causa das crianças, não existia grande alegria nisso. Sentia-me sozinha, duma nova maneira dolorosa. No fundo, sempre pensara que podia contar com o meu marido. Mas naquele momento, embora eu sempre tivesse estado presente quando ele precisara de mim, ele não queria ou não podia dar-me o mesmo apoio.
Talvez fosse o princípio do fim.
Duas meninas
Mesmo nos meus dias mais negros, tentei o melhor que pude educar as minhas filhas para serem livres, para crescerem como elas próprias. Por detrás dos altos muros em volta da nossa casa, pensei que podia construir um pequeno espaço onde seria capaz de tentar reconciliar as diferenças entre os meus valores e os do mundo lá fora. Comprei bicicletas e patins às crianças e ensinei-lhes a nadar na piscina de Haifa. As duas adoravam música, e passavam a vida a ensaiar e a representar pequenos espectáculos para Yeslam e para mim. Durante toda a sua infância, as minhas engraçadas garotinhas estavam cons-tantemente a representar, a mascarar-se e a imitar as canções do meu ídolo, Elvis.
Porém, as lições de dança eram uma impossibilidade na Arábia Saudita, tal como as de música, embora as garotas se sentissem fascinadas pela música clássica. Uma tarde, quando tinha apenas três anos, Wafah ficou encantada a ouvir do princípio ao fim um concerto para piano de Tchaikovski que me pedira que pusesse na aparelhagem:
- Ponha a música grande, mamã, Ia grande musique!
Uma amiga vinha visitar-me nessa tarde, e lembro-me dela ter ficado espantada ao ver Wafah imóvel e concentrada, quase agarrada às colunas. Acho que ela tinha um verdadeiro potencial, qualquer coisa de especial. Mas o simples e normal desenvolvimento dos talentos artísticos das minhas filhas estava fora do meu alcance na Arábia Saudita. Não havia onde aprender fosse o que fosse nesse campo.
Tentei o melhor que pude dar-lhes o género de infância que eu desejara ter. Convidava famílias estrangeiras com rapazinhos da idade delas, e às vezes até passavam a noite lá em casa. Queria que Wafah e Najia vissem os rapazes como pessoas, como eram, ao contrário do que se passava com as suas primitas. Para as primas Bin Laden, os rapazes eram um território estrangeiro, hostil e poderoso, mesmo que tivessem irmãos. E eu detestava ver aquilo.
Era exigente com elas, porque, sendo materialmente privilegiadas, estava determinada a que, desde muito cedo, percebessem o valor do trabalho para apreciar o trabalho dos outros. Era uma coisa muito importante para mim.
Yeslam e eu agarrávamos todas as oportunidades para ir até à Suíça, onde comprámos uma casa numa pequena aldeia nos arredores de Genebra. Aí, eu vivia como queria e vestia o que me apetecia. Podia meter-me no carro e ir ao cinema, podia andar sozinha pelas ruas. Ensinei as garotas a esquiar, e comprei livros que nem uma doida, suspirando ao pensar nos longos e sombrios meses em Gidá.
Sempre receei voltar para a Arábia Saudita. E para as crianças a transição entre os nossos dois mundos era por vezes brutal. Em pequenas, tentavam afastar a abaya da minha cara, quando eu me embrulhava nela ao andar por Gidá. Depois, à medida que iam crescendo, deixaram de o fazer e nunca cheguei a perceber o que era pior. E, de repente, numa tarde de primavera em 1981, lembrei-me de que se aproximava rapidamente a altura de as mandar para a escola.
Até aos dias de hoje, não existe qualquer obrigação legal de educar as raparigas na Arábia Saudita. Muitos sauditas não mandam as filhas à escola, e muito poucos acham que isso seja importante. Mesmo a educação dos rapazes é relativamente recente, porque até à Segunda Guerra Mundial só existiam escolas tradicionais, onde se ensinava a língua árabe, um pouco de história islâmica e o Alcorão. Mas, no princípio da década de 1960, a princesa Iffat, mulher do rei Faiçal, contra a tremenda oposição dos chefes islâmicos, criou a primeira escola para raparigas da Arábia Saudita, Dar el Hanan. Era para lá que Yeslam tencionava mandar Wafah, com seis anos, e a pequenita Najia, com quatro.
Eu sabia que ia ser duro para elas, mas não tive escolha. As crianças sauditas não podem frequentar colégios estrangeiros. Além disso, as minhas filhas eram Bin Laden, e eu não podia isolá-las da cultura do próprio pai. Iam ser obrigadas a enfrentar aquele desafio e, pela primeira vez, estariam sozinhas.
Até então, protegera-as de muito da Arábia Saudita e, como resultado, nem sequer falavam árabe como devia ser. Tentei prepará-las, dizendo-lhes que iam fazer amigas, aprender a língua árabe e que ia ser muito bom. Depois, vi-as entrar para a escola com as suas saias de peitilho verde-escuras e blusas de folhos brancas, e senti o coração apertado. Mas elas não choraram.
As crianças sauditas são espertas e brincalhonas, como as crianças em toda a parte. Podem ser estragadas pelas criadas e pelas mães, podem não ser disciplinadas, e pode existir uma péssima interacção dos garotos - que sabem que são considerados superiores - com as irmãs. Mas crianças são crianças, e é impossível reprimir a centelha da sua inteligência natural.
Noutros aspectos, contudo, as crianças sauditas eram diferentes das minhas. São, desde muito cedo, treinadas para aderir ao estrito código social, e a certeza da posição inferior e da subserviência das mulheres é-lhes incutida enquanto crescem.
No carro, o filho mais velho de Haifa, com apenas dez ou doze anos, mandava bruscamente a mãe colocar o véu quando via algum homem aproximar-se. As rapariguinhas sabiam que deviam caminhar, vestir-se e falar discretamente. Deviam ser submissas, dóceis e obedientes: era vulgar ver um garoto entrar numa sala e, com um gesto, mandar a irmã levantar-se donde estava sentada.
Na escola, a essas crianças deparou-se-lhes uma espécie de lavagem ao cérebro. Eu vi isso acontecer com as minhas filhas. As lições das várias disciplinas - Árabe, Matemática e História - eram sempre aprendidas mecanicamente, como papagaios, sem compreender o seu verdadeiro conteúdo. Não havia desportos, debates ou discussões, nem jogos, berlindes ou triciclos. A Educação Religiosa era a disciplina mais importante de todas, e as lições pareciam durar metade ou mais de cada dia.
Quando Wafah estava com sete ou oito anos, lembro-me de dar uma vista de olhos por um caderno dela uma noite e descobrir que ela escrevera: «Odeio os Judeus e amo a Palestina», com a sua infantil escrita árabe. Que estava a acontecer à minha filha? Se ela ia odiar alguém, eu queria que fosse por um bom motivo, e a disputa árabe-israelita era uma coisa que ela desconhecia por completo.
No dia seguinte, fui ter com a directora da escola e disse-lhe:
- A minha filha não sabe onde fica a Palestina e nada sabe sobre Israel. Ainda nem sequer está a dar Geografia. Como é que podem ensinar-lhe a odiar uma coisa que ela desconhece por completo?
A directora, uma mulher pequena mas imperiosa, mostrou-se absolutamente impenetrável ao meu protesto.
- Isso não é assunto para a senhora discutir - disse-me ela. - É estrangeira e não pode compreender. O seu marido tem conhecimento disto?
Tentei manter-me digna e respondi-lhe que o meu marido sabia perfeitamente qual era a minha posição e ia pedir-lhe que telefonasse para a escola. Depois, fui para casa, liguei para Yeslam e fiz com que ele telefonasse para a directora da escola e lhe dissesse que a educação das crianças estava exclusivamente a meu cargo.
Foi uma espécie de vitória, porque queria que ela soubesse que Yeslam me dava total autoridade sobre as crianças, uma coisa de que poucas mulheres sauditas podiam gabar-se. Mas, intimamente, sabia que nada podia fazer para evitar que a escola continuasse a ensinar as minhas filhas a odiar cegamente ao mesmo tempo que lhes ensinava a ler e a escrever. Era obrigada a entregá-las todos os dias das oito da manhã às duas da tarde, e isso tornou-se uma das coisas duma longa lista que comecei a aceitar contra a minha vontade.
No entanto, embora não pudesse mudar o trabalho da escola, como mãe delas, podia influenciá-las. Empreendi então um esforço consciente para lhes ensinar a raciocinar, a deduzir coisas e a pensar por elas. Ia buscá-las às duas da tarde e, durante o almoço, debatíamos muitas vezes as notícias ou falávamos de tolerância religiosa - a um nível infantil, evidentemente. Organizei um programa de actividades pós-escolares, com desportos e brincadeiras estruturadas com Playmobil e plasticina. E estava decidida a que aprendessem música. Pensei em arranjar alguém que viesse ensiná-las a casa.
Pouco me interessava que Wafah tivesse notas altas na escola, porque sabia que a professora daria sempre as melhores notas a uma Bin Laden, merecesse-as ela ou não. Era assim que a coisa funcionava. E, fosse como fosse, as notas eram apenas o reflexo da sua boa memória e não duma verdadeira compreensão das lições.
Um dia, exasperada, fui ter com a professora e disse-lhe que queria que ela tratasse Wafah como as outras alunas. Uns dias depois, Wafah chegou a casa a soluçar, porque a professora lhe dera um estalo. Voltei à escola, não para protestar, mas sim para dizer à professora que não considerava aquilo o melhor método de disciplina. Furiosa, a mulher garantiu que Wafah era uma mentirosa, porque nunca lhe tocara. Então, perguntou às crianças:
- A Wafah está a mentir, não está?
Mas uma garota valente, outra meio estrangeira, levantou a mão e afirmou que Wafah dissera a verdade. A pobrezinha teve o resto do ano lectivo desgraçado.
Rapidamente percebi que as minhas intervenções na escola não davam bom resultado, mas não conseguia ver as minhas filhas a serem educadas naquele espírito. Embora detestasse sobrecarregá-las de trabalho, arranjei-lhes uma professora para lhes dar lições depois da escola, e disse-lhe que queria que as crianças compreendessem as lições, em vez de as aprenderem de cor. A mulher nunca me perguntou o que eu queria dizer com aquilo, porque uma saudita nunca diz que não percebe uma coisa: isso seria uma humilhação. Mas eu vi que ela se esforçava por entender. E acho que acabou por perceber que era realmente uma maneira melhor de aprender, o que salvou os cérebros das minhas filhas.
Noutra ocasião, Wafah chegou a casa de novo a chorar. Ao ouvir música, na escola, começara a dançar. Uma colega soprara-lhe imediatamente:
- É haram. Dançar é haram. Então, tu não sabes?
E que faz uma mãe, quando a filha lhe pergunta se dançar é pecado ??
- Dançar não é haram – disse-lhe eu. – Podes dançar.
Devia tê-la prevenido de que só convinha dançar em casa, e que era uma coisa que podia arranjar-lhe sarilhos um dia, mas como é que se diz a uma filha que a música e a dança são pecados ? Essas incontáveis e infindáveis restrições, mesquinhas e idiotas, irritavam-me, e não podia forçá-las nas minhas filhas.
As palavras de Khalil Gibran perseguiam-me enquanto criava as minhas pequeninas:
«Os teus filhos não são teus filhos, são os filhos e as filhas do desejo pela própria vida. Vem através de ti mas não de ti e, embora estejam contigo, não te pertencem.
Podes dar-lhes o teu amor mas não os teus pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podes abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, porque as suas almas habitam na casa do amanhã, que tu não podes visitar, nem sequer em sonhos. Podes esforçar-te por ser como eles, mas não procures torná-los como tu.
porque a vida não anda para trás nem permanece no dia de ontem ...»
- As minhas filhas eram o meu tesouro, e eu tentava dar-lhes o meu amor, sempre reconhecendo que possuíam os seus próprios pensamentos. Contudo, à minha volta, via uma espécie rnuito diferente de educação. Na Arábia Saudita existe uma vlsão diversa do respeito. Nunca se vê uma criança contradizer o pai. Mas, para mim, o respeito vai muito para além disso, como aprendera com o exemplo de Mary Martha. Acho que, quanto mais se ama uma pessoa, mais fácil deve ser dizer-lhe coisas dificeis, porque a concordância superficial é para os estranhos. Eu queria que as minhas filhas soubessem mais do que eu, fossem mais inteligentes, discordassem de mim e mo mostrassem.
Respeitava os seus feitios e as suas opiniões, tanto quanto queria que respeitassem os meus. O respeito, para mim, torna-se uma coisa que eu devia tentar obter pelas minhas acções. Não queria que as minhas filhas se sentissem obrigadas a aceitar todas as minhas ideias, não queria que se sentissem amedrontadas - Queria que me dissessem não. Se pudessem dizer-mo, a mim, podiam dizê-lo ao mundo, e crescer tornando-se as pessoas que quisessem ser.
Mas na escola, as minhas filhas aprenderam o medo do fogo do inferno. Começaram a preocupar-se com a minha alma.
- Mãezinha, se não reza, vai para o inferno - dizia Najia, olhando para mim com os seus grandes olhos inocentes muito abertos. Eu respondia-lhe que a minha fé era um assunto entre Deus e eu, e que o mais importante era uma pessoa comportar-se de modo a ajudar os outros e não a prejudicá-los. Disse às minhas filhas que não queria que rezassem por terem medo do inferno, porque a oração não é uma coisa que se faz para negociar com Deus. Explicava-lhes que era um pedido íntimo para se conseguir paz interior.
De vez em quando eu e as minhas cunhadas abordávamos esse assunto nas nossas conversas. Contudo, ultimamente isso de nada servia - elas só tinham certezas. Mas, com as minhas filhas, a lição foi absorvida, talvez demasiado bem. Apesar da sua tenra idade, elas eram capazes de ter as suas próprias opiniões. Um dia, o rei decretou que todas as amas na Arábia Saudita deviam tornar-se muçulmanas. A nossa criada filipina, Dita, disse a Wafah e Najia que estava envergonhada por o rei afirmar que a sua religião não era correcta. Wafah perguntou-lhe se ela acreditava no islão e ficou profundamente chocada quando ela disse que não. Mas depois perguntou-lhe:
- Porque é que vais mudar, se ainda acreditas na tua religião? O que é que a tua mãe e o teu pai vão pensar de ti? À minha mãe nunca vai obrigar-te a mudar de religião, sabes?
Achei aquilo adorável e também bastante profundo e lúcido da parte da minha filhinha. Na sexta-feira seguinte, quando almoçámos com a minha sogra, contei-lhe o episódio. A reacção dela foi inesperada. De testa franzida, disse-me:
- Fechaste a porta dela para o paraíso.
Wafah, com sete anos, percebera que a questão importante era a fé da Dita e não o fingimento duma fé. Mas a minha sogra estava convencida de que fingir ser muçulmana era infinitamente preferível a ser uma católica crente.
Comecei a recear não estar a fazer um favor às crianças educando-as com ideias ocidentais. Lenta e imperceptivelmente, parecia que estávamos a criar dois conjuntos de ideias, semelhantes aos dois guarda-roupas diferentes para a Suíça e para a Arábia Saudita. Em Genebra, as crianças usavam camisolinhas de manga curta e calções e eu um biquini na praia em Cannes. Elas montavam a cavalo e aprendiam a esquiar na água. Yeslam permitia aquilo tudo por serem novinhas: não tinha importância. Além disso, estavam no estrangeiro, de maneira que não contava.
Porém, a roupa que parecia óptima em Genebra não podia ser usada em Gidá, nem sequer dentro de casa. Com pessoas importantes, as aparências precisavam de ser mantidas. Todo o cuidado era pouco. E fui vendo as primas mais velhas das minhas filhas a usar saias mais compridas e mais modestas. A medida que foram crescendo, poucas delas iam às festas dos anos de Wafah e Najia. Já não era decente brincarem com rapazes. E grande parte das que iam já não se comportavam como crianças, já não sabiam gritar e correr ou brincar ou dançar.
As minhas filhas começavam a entrar num mundo que não era o meu. Na primeira vez em que vi uma das primas delas de véu, exclamei:
-Já?
A ideia abstracta de que as minhas filhas estavam a crescer tornava-se mais real e em breve seria a vez de Wafah se embio-car de preto. Havia variantes: nas famílias muito religiosas, as raparigas começavam a usar véu aos nove anos, mas outras famílias esperavam pela puberdade, aos doze ou treze. No entanto, todas as raparigas tinham de usar véu em público assim que tivessem o primeiro período. Eu aguardava o dia com pavor, embora tentasse argumentar comigo própria. Afinal, eu também usava a abaya, e não era o fim do mundo, apenas uma desconfortável idiotice.
No entanto, ao ver a sociedade saudita mergulhar cada vez mais num rígido fanatismo, já não confiava que as minhas filhas um dia pudessem decidir não usar o véu. Olhava para a minha abaya, orlada com um leve bordado prateado, e parecia-me de repente uma pavorosa vestimenta negra e aterradora em tudo o que representava. Percebi que, ao criar as minhas filhas acreditando na liberdade, na tolerância e na igualdade, estava a moldá-las para que fossem mulheres que iriam revoltar-se numa sociedade que procurava encerrá-las. E, como ficara amplamente demonstrado com o assassinato da princesa Mish'al, na Arábia Saudita uma mulher rebelde pode ser marcada para a morte.
Eu era estrangeira e o meu marido meigo e compreensivo, mas nenhum outro Bin Laden - aliás, nenhum dos homens sauditas que eu conhecia - poderia tolerar os meus valores ocidentais. Teriam Wafah e Najia uma vida tão fácil como a minha? Ou seriam os seus maridos mais como o severo e reservado Bakr? Ou como Mahrouz, ex-playboi, transformado em extremista da linha dura? Ou, terrível pensamento, como o rigidamente puritano Osama? Os homens sauditas eram completamente imprevisíveis: um aparente liberal podia mudar de posição em alguns meses, tornando-se devoto e impondo estritos costumes islâmicos à sua esposa.
Eu escolhera o meu marido, recebia homens na nossa casa e dava jantares. Poderiam as minhas filhas fazer as mesmas escolhas? Ou casariam com um primo, por exemplo, numa aliança arranjada pela família, sendo-lhe entregues de corpo e alma, acontecesse o que acontecesse, para o resto das suas vidas?
Os casamentos das minhas filhas podiam desfazer-se, como o meu podia um dia falhar. Essa ideia toma proporções ainda maiores na Arábia Saudita, onde o marido detém a chave para as poucas e minúsculas liberdades a que uma mulher pode aspirar.
A palavra «islão» significa submissão. Eu acabara por ter pavor da submissão. Vira demasiadas mulheres privadas dos filhos, da independência, da própria mente. Mas, se as minhas filhas não fossem submissas, que vidas poderiam ter?
Era uma coisa que me roía por dentro. Eu tivera a liberdade da escolha e escolhera uma vida restrita em muitas pequenas maneiras, bem como em algumas grandes. Contudo, ao fazer essa opção, impedira as minhas filhas de algum dia serem livres de escolher como eu fizera. Nos meus pesadelos, via as minhas pequeninas a crescer, transformando-se em mulheres sauditas curvadas sob o peso da subserviência, embiocadas em escuridão. Nas longas noites em que olhava lá para fora no terraço, já não via as aves negras a voar sobre o deserto. Agora eram as minhas preocupações que me giravam em torno da cabeça, sem me dar descanso.
Um casal saudita
Yeslam foi ficando mais estranho, e eu cada vez mais distante da família Bin Laden. Vivia para as férias escolares, contando os dias até podermos partir para a Europa ou para os Estados Unidos, e para a minha versão da liberdade. Contudo, quando Fawzia, a irmã mais nova de Yeslam ficou noiva, foi inevitável que a cerimónia de entregá-la se desenrolasse na nossa casa de Gidá. Tal como era meu guardião legal, Yeslam era também o chefe da família dela.
De todas as mulheres da família Bin Laden, Fawzia era a que eu conhecia melhor. Vira-a crescer e tornar-se mulher. Ela era a única irmã de Yeslam da mesma mãe e vivemos na mesma casa durante mais de um ano. Por ser rapariga, nunca fora mandada para um colégio interno no estrangeiro. Sempre vivera com a mãe e, até casar, as duas até compartilhavam o quarto de dormir.
Fawzia estava plenamente convencida da sua importância. Era bonita, e considerava-se a mais bonita de todas as irmãs Bin Laden. Como verdadeira irmã, sentia que devia ter mais importância nas vidas dos irmãos do que as mulheres deles.
Eu devia ser íntima dela, mas não conseguia. Sentia que ela invejava a minha relação especial com o irmão e percebia perfeitamente que eu não era cega às artimanhas de que se servia para obter concessões do seu futuro marido ou mesmo dos irmãos.
Para mim, as relações eram fracas. Se queria alguma coisa de Yeslam, pedia-lha directamente. Quando a minha mãe teve de enfrentar dificuldades financeiras pedi ao meu marido, com toda a simplicidade, que a ajudasse, o que ele fez. Falava abertamente das coisas que achava que eram importantes, e Yes-lam e eu podíamos sempre falar delas.
Fawzia fora criada para evitar essa espécie de comportamento claro e directo. Como muitas outras mulheres sauditas, aprendera a manipular os homens duma maneira mais subtil e oblíqua, para obter aquilo que precisava. Se queriam ir ao estrangeiro, apareciam sempre com uma desculpa plausível, como uma consulta médica. Se precisavam de mais dinheiro para comprar qualquer coisa, inventavam uma conta das despesas da casa como pretexto, e depois usavam o dinheiro para o que lhes desse na gana.
As minhas cunhadas desviavam rotineiramente dinheiro dos seus orçamentos caseiros para os seus pés-de-meia. Uma vez, precisava de comprar presentes para amigos no estrangeiro e Yeslam deu-me duzentos mil riales (cerca de cinquenta mil dólares) para ir ao suk do oiro. Fui às compras com uma das minhas cunhadas e, quando voltei, mostrei a Yeslam o que escolhera e disse:
- Sobejaram sessenta mil riales.
Coloquei o dinheiro em cima duma mesinha, o que provocou a surpresa da minha cunhada.
- O teu marido deu-te o dinheiro. Devias ficar com ele para ti! - repreendeu-me ela.
Porém, Yeslam e eu nunca vivemos assim. Havia quase sempre em casa uma caixa de dinheiro - duzentos mil riales ou, por vezes, dez vezes isso - que eu podia utilizar como quisesse. Por que motivo havia de fazer qualquer velhacaria?
Não me lembro de alguma vez ter visto uma mulher saudita ser directa ou admitir ignorância. Acontecia eu estar a falar com as minhas cunhadas e, de repente, perceber que não faziam ideia do que eu estava a dizer, mas nunca o confessavam. (E até podia, mais tarde, ouvi-las repetir as minhas palavras a outra pessoa.) As mulheres sauditas nunca admiram abertamente uma coisa que não lhes pertence. E são especialistas em denegrir as pessoas, o seu aspecto, maneira de vestir e de manter a casa. Mas, depois, copiam-nas constantemente, apesar de manifestarem desprezo por elas.
Muitas vezes pensei se poderia suportar ensinar tal comportamento às minhas próprias filhas, porque sabia que iam crescer na Arábia Saudita e que, como mulheres, nada poderiam obter por si, dependendo sempre da permissão dos homens.
Fawzia e eu provínhamos de dois mundos diferentes. Talvez os seus antecedentes e o seu lugar naquela sociedade dirigida pelos homens a tivessem obrigado a ser astuta e manipu-ladora para conseguir aquilo que precisava. Eu, ao contrário, aprendera na América a ser franca. Na Arábia Saudita, o comportamento dela era provavelmente mais inteligente e mais adequado do que o meu.
Existiam inúmeras diferenças entre nós. Sou mulher e admito que posso ser vaidosa e que gosto do luxo, das coisas que o dinheiro pode comprar. Naquele tempo, tinha cinco ou seis casacos de pele para as viagens à Europa, um cofre cheio de jóias e um quarto de roupeiros a abarrotar de vestidos. Nunca perguntava preços. Se alguma coisa me interessava, comprava-a.
Todavia, para muitas mulheres sauditas, fazer compras era uma espécie de vício... um frenesi para preencher o vazio e o aborrecimento das suas vidas. Não pareciam comprar coisas por gostarem delas, mas sim porque outras mulheres as possuíam. E queriam ter sempre mais e melhor do que todas as outras. Uma vez, Yeslam deu-me um colar de esmeraldas. Fawzia torceu o nariz, desdenhosa, e depois foi imediatamente comprar um para ela.
No entanto, quando chegou a altura do seu casamento, fiquei contente, já que tanto ela como a mãe pareciam encantadas. Estávamos em Genebra quando soubemos que tudo se encontrava preparado para o noivado com Majid ai Suleiman, duma das importantes famílias sauditas. Ela disse-me que precisava dum vestido e eu fui a correr comprar-lhe um belo modelo de Givenchy, cor-de-rosa e branco, com fitas de seda, o vestido de noiva da última colecção de alta-costura, o vestido mais bonito em Genebra nesse ano.
Fawzia torceu o nariz ao vestido, por ser demasiado simples. Mas, quando viu que as cunhadas o adoravam, usou-o.
Não me lembro de mo ter agradecido, a propósito. Estava plenamente segura da sua superioridade, pelo motivo de sempre: era saudita e eu não.
Para a festa de noivado melka de Fawzia, deitámos mãos à obra. Enfeitámos o jardim com milhares de luzes e preparámos tudo para servir centenas de mulheres. Então, na véspera do casamento, Fawzia ameaçou anular aquilo tudo. Queria um contrato matrimonial que lhe garantisse que podia pedir o divórcio.
Eu nunca ouvira falar em tal coisa. Na Arábia Saudita, o divórcio é simples, quando se é homem. Ele limita-se a dizer: «Divorcio-me de ti», três vezes, na presença de testemunhas, e já está. Uma mulher, contudo, tem de lutar através do processo bizantino dum tribunal religioso, e a sua única esperança de divórcio é com fundamento num comportamento não islâmico. (O adultério e os espancamentos não contam.)
A festa de noivado melka foi adiada dois dias. Os floristas levaram de volta os enormes arranjos e tudo ficou à espera de novas ordens. Mas Fawzia conseguiu o seu contrato, obteve o que queria. Era esperta.
A festa realizou-se finalmente. As convidadas iam chegando e despindo as abayas, numa autêntica competição para ver quem trazia a cara mais pintada, usava mais jóias e o vestido de alta-costura mais caro. Fawzia e o noivo, Majid, chegaram separadamente, aos gritos ululantes das mulheres presentes. Sentaram-se sob um toldo, assinaram o registo. Era a parte do casamento que eu não tivera - com o registo assinado dentro do carro - porque a festa melka de Regaih acontecera antes de eu chegar à Arábia Saudita para casar. A verdadeira festa do casamento de Fawzia foi umas semanas depois, num hotel. Mas, entretanto, estavam legalmente noivos, ela e Majid, e podiam encontrar-se pela primeira vez sem pau-de-cabeleira.
Yeslam e eu gostámos de Majid. Com vinte e dois anos, bastante mais novo do que a mulher, era um homem com muito bom feitio, muito mais tolerante do que Fawzia. Era também espirituoso, com grande sentido de humor. Conversávamos e ríamos juntos, no Verão, quando íamos para Gene-
bra, os quatro. Uma vez, ele viu-me com um casaco de raposa prateada com um brilho acinzentado natural. Majid, que adorava brincar, exclamou:
- Então, fizeste cabelos brancos ao pobre animal? - Depois, olhou para Yeslam e acrescentou: - Cuidado, homem, não te aproximes muito da tua mulher, que também ficas com os cabelos brancos!
Wafah e Najia adoravam Majid. Era muito bom e paciente, e achávamos que Fawzia tivera muita sorte. Uma vez, lembro-me de estarmos a arranjar-nos em casa deles para sair, Fawzia, Majid e eu. Eu esperava com ele no rés-do-chão e ouvimo-la gritar com a criada por ter feito um buraco no tapete a passar a ferro no chão. Por que razão ela não compra uma tábua à pobre mulher?, pensei eu para comigo. Mas a criada tinha imenso medo de Fawzia e das crianças também.
Fawzia tinha dois filhos pequenos, Sarah e depois o bebé, Faiçal. Como muitas crianças sauditas ricas, a pequena Sarah era mimada materialmente, embora sem receber grande atenção dos adultos. Possuía caixas de brinquedos com os quais não sabia brincar, e quase nenhuma disciplina. Lembro-me de a ver rasgar inúmeros baralhos de cartas. A mãe nunca tentou ensinar-lhe a respeitar objectos ou pessoas.
Os pais sauditas parecem muito embevecidos com os filhos, mas ao mesmo tempo ignoram as suas maiores necessidades. Sarah nunca se ocupava com uma coisa construtiva. Quando ficava rabugenta, Fawzia limitava-se a entregá-la à criada - não uma ama treinada ou coisa parecida, apenas uma criada da casa. A pobre mulher tratava de Sarah - e de Faiçal, o bebé - de manhã à noite, para além de se ocupar de toda a lida da casa. Se uma criança chorava, era por culpa da criada, mas nunca havia uma palavra de gratidão pelo seu trabalho. Dita, a nossa criada filipina, costumava ajudar as minhas filhas a adormecer deitando-se a seu lado na cama. Esse simples ritual doméstico tornava-se um problema se as crianças dormiam a sesta em casa de Fawzia, porque a criada dela não podia utilizar os móveis. Nem sequer lhe permitiam sentar-se numa cadeira para dar de comer às crianças.
Majid era uma influência moderadora na mulher, mas um dia aconteceu a tragédia. Ele era apaixonado por automóveis, e resolveu comprar um carro de Fórmula Um, verde-vivo e conhecido de toda a gente. Corria com as cores da companhia aérea saudita e era o orgulho de todos os rapazes adolescentes do país. No dia em que o carro foi entregue, Majid decidiu experimentá-lo, mas a aceleração do veículo era demasiado poderosa e, ao sair da garagem, deu um salto em frente. Majid foi atirado para trás, batendo com a cabeça, e ficou inconsciente.
Levaram-no para o hospital universitário e recuperou a consciência. Um médico coseu a ferida que sangrava na parte de trás da cabeça, sem perceber que havia uma hemorragia interna, e Majid tornou a perder a consciência. Mandaram vir neurocirurgiões de avião de Londres, mas era demasiado tarde. O cérebro dele deixou de funcionar, e o corpo também, um mês depois. Embrulharam-no numa simples mortalha e enterraram-no ao pôr do Sol, numa campa não assinalada, no deserto, segundo o costume vaabita. Nenhuma mulher pôde assistir.
Fiquei completamente destroçada e não conseguia pensar noutra coisa. Majid, tão boa pessoa e divertido; tinha apenas vinte e sete anos. Como podia ele ter morrido? Preparei-me para o período de três dias de luto em casa da mãe dele, quando todas as mulheres da família dela estariam presentes, para acompanhar Om Majid e Fawzia na sua dor. (Yeslam foi com os homens para junto do pai de Majid.) Quando cheguei, encontrei uma sala cheia de mulheres a chorar aos gritos, vestidas todas de preto ou todas de branco, e Fawzia muito pintada no sofá. Dera à luz recentemente - o filho, Faiçal, tinha dois ou três meses - e, quando Om Yeslam lhe perguntou se precisava de alguma coisa, ela respondeu:
- Duma cinta.
Fiquei atónita. Preocupar-se com a aparência numa altura daquelas! Disse-lhe como lamentava a sua perda, e a resposta foi:
- É a vontade de Deus. E talvez fosse melhor assim. Se vivesse, era capaz de se divorciar de mim e de me tirar as crianças.
De novo boquiaberta, tentei concentrar-me nas crianças.
Faiçal, o bebé, estava a chorar. Não tomava banho nem lhe davam atenção havia dias. Peguei nele, lavei-o e depois levei a pequena Sarah até um carrossel para se distrair. E passei os três dias de luto o mais silenciosa possível.
Uma das irmãs de Majid parecia muito perturbada, e eu disse a Fawzia que estava preocupada com ela.
- Ora, essa! Durante os nossos cinco anos de casamento, quase nunca a vimos. Está a ser melodramática! - afirmou ela, como se não quisesse que alguém sentisse o que ela visivelmente não sentia.
Uns dias depois, soubemos que um dos irmãos de Om Yeslam morrera no Irão. E Fawzia não largou a mãe.
- Ai, mamã, pobre mamã! - dizia ela. Não pude conter-me e perguntei-lhe:
- Há quanto tempo é que a tua mãe não via o irmão? Deitou-me um olhar capaz de derreter gelo, vivo como o duma cobra, e penso que a partir daí começou realmente a odiar-me.
Dias depois disso, antes de partir para Genebra, resolvi ir mais uma vez dizer a Om Majid como lamentava o sucedido. Era uma mulher simpática, e eu gostava dela. Fawzia pediu ao meu motorista que lhe levasse um bilhete. Quando o bilhete foi entregue a Om Majid, vi-a chamar o criado e dizer:
- Entrega o dinheiro ao motorista.
Disse aquilo com a cara molhada de lágrimas. Precisei de algum tempo para perceber que Fawzia acabara de enviar à sogra a conta de dois mil riales do salário da sua cozinheira. Tive vontade de me enfiar pelo chão abaixo.
Irmãs no Islão
Fawzia nunca mostrou indícios de compaixão na sua alma, mas rezava cinco vezes por dia. Todas as mulheres da família Bin Laden o faziam, e entre as mais ortodoxas encontrava-se Sheikha, quase uma cópia feminina de Osama, embora muito mais branda. Todas as mulheres Bin Laden mais novas a admiravam, e até as mães louvavam a sua devoção religiosa, particularmente depois de ela começar a trabalhar para Osama, a recolher ajuda para os Afegãos, e a viajar para lá para a entregar.
Visitei-a muitas vezes, como visitava várias das minhas cunhadas. Precisava de compreender a cultura em que as minhas filhas viviam e de conhecer as raízes de Yeslam. Sheikha e o marido tinham construído uma casa perto da nossa. Mas nunca fomos íntimos no sentido ocidental da palavra. As mulheres sauditas não expõem a sua vida umas às outras, como as mulheres americanas ou europeias, sobretudo a uma estrangeira.
Entre as mulheres, achei que existia um sentido mais codificado de irmãs e meias-irmãs do que entre os homens. Por exemplo, as três irmãs de Ahmad, que compartilhavam a mãe, pareciam realmente bastante íntimas, e até iam juntas para todo o lado. Às vezes, as irmãs Bin Laden mostravam-se amigas, mesmo sendo apenas meias-irmãs. Sheikha e Rafah não eram filhas da mesma mãe, mas tinham as mesmas convicções religiosas. Eu não crescera com elas e nem sequer era uma meia-irmã. Não passava duma cunhada e, ainda por cima, ocidental. Por isso, não posso dizer que chegasse a ser «íntima» delas.
Apesar disso, fazia visitas. Era uma actividade. Sheikha pedia-me notícias de Yeslam, eu perguntava delicadamente pela saúde da família dela. Mesmo esse simples diálogo era rituali-zado, um campo minado de pavorosos possíveis erros. Ela podia usar o nome do meu marido na conversa, por ser seu irmão, mas eu não podia pronunciar o nome do marido dela, apesar de sermos cunhadas. Dizer o nome dele em voz alta ou perguntar pela sua saúde seria presumir uma forma de intimidade, coisa impensável.
Vivera tanto tempo na Arábia Saudita que já nem reparava nesses rituais de segregação, mas agora, olhando para trás, vejo como eram realmente estranhos e disparatados.
Apesar de tudo, gostava de Sheikha. Ela era enérgica e vigorosa, embora aplicasse essas qualidades apenas nas suas crenças religiosas. A filha mais velha do xeque Mohamed, Aisha, também era enérgica e autoritária. Muito próxima de Om Yeslam - ao ponto de amamentarem os filhos uma da outra -, todas as mulheres Bin Laden pareciam conceder-lhe uma posição especial, como competia à filha mais velha do grande xeque. (Aisha era mais velha do que muitas das mulheres dele.)
Baixa, mas muito digna e relativamente bem-falante, costumava queixar-se-me de que Yeslam não a visitava com muita frequência. Era uma ousadia, porque uma irmã não se queixava dum irmão.
Mas essa crítica nunca ia demasiado longe. Uma vez, cheguei a uma reunião familiar com Yeslam e encontrei Aisha.
- Olha, não precisas de te queixar de que o Yeslam não te visita - disse-lhe eu. - Aqui o tens e podes dizer-lho tu mesma!
Ficaram todos horrorizados. Eu acabava de convidar Aisha a pedir satisfações ao meu marido e irmão dela em público! O silêncio que se seguiu pareceu infindável.
A única quebra no terrível protocolo que regia as relações entre as mulheres Bin Laden era uma pequena mas perceptível inveja duma das irmãs, Randa. Randa era filha única, sem irmãos de pai e mãe. Mas ela era favorita de Salem, e Salem era o irmão mais velho.
Salem era o chefe do clã dos Bin Laden. E nunca recusava fosse o que fosse a Randa, segundo diziam as mulheres. Era quase escandaloso, murmuravam, como Salem a levava para toda a parte, viajando com ela até para fora do país - às vezes, mesmo sem a própria esposa. Na realidade, segredavam, se ele ia ao estrangeiro com Randa e levava também a mulher, quem se sentava ao lado dele era a irmã, com a mulher relegada para o banco de trás.
Sempre detestei coscuvilhices, e aquela conversa parecia-me particularmente fútil.
Seria de pensar que, num mundo de mulheres, o companheirismo e a espontaneidade existissem a par duma calorosa compreensão. Mas entre as mulheres Bin Laden cada gesto era sempre muito educado, altamente ritualizado e quase completamente estático. A minha amiga Haifa, a esposa síria de Bakr, possuía uma compreensão mais natural dos códigos do que eu, e teve de me ajudar a aprendê-los.
Sempre fui uma boa imitadora, e acabei por conseguir cumprir os rituais de conversação correctos nas infindáveis reuniões a que me sentia obrigada a assistir. Mas elas frustravam-me. Nada parecia aprofundar-se. Numa família tão grande e com tantas idas e vindas, os contactos nunca passavam de superficiais.
Então, uma tarde, Sheikha convidou-me a assistir a uma das suas reuniões de estudos religiosos. As irmãs escolhidas entraram na sala dela e ouviram em silêncio enquanto uma erudita lia e interpretava o Alcorão. Algumas daquelas mulheres estavam a tornar-se absolutamente fanáticas, reparei. Percebia-se quais eram as mais fervorosas pelas luvas pretas e grossas que usavam no calor de Gidá. E muitas usavam também lenços a cobrir a cabeça, mesmo dentro de casa, apesar de só haver mulheres presentes.
A força daquela convicção religiosa dava uma posição de chefia a algumas daquelas mulheres: Aisha, Sheikha e Rafah, outra irmã mais velha, bastante bonita. Penso que Rafah se preocupava sinceramente com a minha alma imortal, enquanto eu desejava que ela se abrisse um pouco ao mais vasto mundo. Ela e eu debatíamos muitas vezes os méritos das restrições
islâmicas sauditas. Rafah estava sempre a pregar o correcto comportamento islâmico, e as mulheres mais novas - como a jovem e acanhada Najwah, esposa de Osama - concordavam com ela, em silêncio.
Eu gostava de verdade de algumas daquelas mulheres, como por exemplo Om Yeslam, que era bondosa e meiga. Apreciava a energia de Sheikha. A mãe de Rafah, tal como a de Sheikha, era simpática e hospitaleira. Taiba, que perdera os filhos quando o marido se divorciara dela, era meiga e cordial. E acho que também elas gostavam de mim.
Apesar disso, ao assistir à reunião de estudos religiosos naquela tarde em casa de Sheikha, percebi que Haifa e eu nos tornáramos uma minoria. Olhei para as mulheres sentadas à minha volta, ouvindo-as falar, como se estivesse a ver um filme e sentindo-me uma autêntica estranha. Najwah era particularmente perturbante, se calhar por ter apenas vinte e dois anos. Muito apagada, estava constantemente grávida e, quando eu deixei definitivamente a Arábia Saudita, ela e Osama tinham sete filhos rapazes. Sempre de olhos baixos e com roupa parda, Najwah parecia quase completamente invisível.
De que podia eu falar com mulheres como aquelas? Que pode uma pessoa dizer a alguém quando nada tem em comum? Ali estava eu, a pensar: «O que tem esta rapariga na sua vida? É piedosa... a religião é o seu mundo. Não pode ouvir música... tem filhos e o marido não a deixa sair de casa. Pode sorrir-me, e pensar: «Pobre mulher, vai para o inferno.» E eu pensaria: «Pobre mulher, vive no inferno.» Duas mulheres, sentadas na mesma sala, em trajectórias completamente separadas. Najwah e as mulheres como ela metiam-me medo. Considero as mulheres guardiãs do progresso moral, encarregadas do futuro. Quando elas se agarram ao passado por medo da mudança, uma sociedade não pode evoluir.
Mais do que qualquer outra religião, segundo me parece, o islão influi profundamente na vida quotidiana dum crente. Não é apenas uma teologia; é um estilo de vida pormenorizado. Para um muçulmano estritamente ortodoxo - e os Sauditas são a espécie de muçulmanos mais estrita que existe - não é concebível qualquer separação de religião e estado. O islão é a lei islâmica, e o código de comportamento e lei é tão fundamental para a prática religiosa como o Alcorão. A criaria - o conjunto das leis islâmicas - é a constituição da Arábia Saudita. Não existe a mínima possibilidade de o governo ou a sociedade saudita se separarem das estritas regras do islão vaabita.
O xeque Mohamed bin Abdul Wahab, que fortaleceu o islão saudita no século xvicom o seu revivalismo extremamente puritano, estava convencido de que o islão que via à sua volta precisava de ser purificado - levado de novo para as suas raízes do século vii. Enquanto noutros países islâmicos menos isolados, como o Egipto, o islão era visto como um conjunto de conceitos mais ou menos em evolução ao longo dos séculos, o xeque Wahab insistia que não podia permitir-se qualquer interpretação da lei do profeta Maomé. O islão era para ser aceite no total, e não podia ser modernizado nem reagrupado.
Como resultado, os Sauditas tornaram-se os guardiães da absoluta ortodoxia no mundo islâmico, os mais duros entre os duros. A única diferença entre o islão saudita e o do talibã afe-gão de linha ultradura é a opulência e auto-indulgência dos al-Saud. Os Sauditas são os talibãs no luxo.
Viver numa economia moderna e global significa que os Sauditas tiveram de se modificar pelo menos em algumas coisas e de adaptar a sua sociedade, por muito pouco que fosse. Mas até simples inovações, como automóveis e imagens fotográficas ou televisão, requerem regras de eruditos islâmicos para determinar se são admissíveis segundo o islão. Em parte para pacificar o povo zangado com as mudanças modernas e também por simples convicção, os Sauditas fundam movimentos para exportar a sua estrita forma vaabita do islão para o mundo exterior. A fundação de tais movimentos tornou-se uma preocupação particularmente forte depois da invasão do Afeganistão.
Quando eu vivia na Arábia Saudita, dizia-se que seis por cento do rendimento do petróleo iam para a propagação do islão pelo mundo. Para além dessa despesa oficial, as famílias importantes sentiam um dever pessoal de patrocinar os movimentos evangelistas islâmicos. Assim, mesquitas na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos são construídas e mantidas pela Arábia Saudita. Os seus pregadores adoptam a mensagem de linha dura do xeque Wahab para culturas muçulmanas que evoluíram até se tornarem mais tolerantes e flexíveis.
Eruditos são enviados para Riade e Gidá a fim de serem educados, e voltam às suas terras para espalhar a palavra. Os Sauditas pressionam as pessoas que recebem a sua ajuda financeira a impor regras estritas, como banir as bebidas alcoólicas, tornar obrigatório o jejum durante o Ramadão e minimizar a educação das mulheres e o seu acesso ao trabalho. O islão da Arábia Saudita é uma enorme força riquíssima que procura mudar o mundo e se estende muito para além das fronteiras desse país, noutros aspectos firmemente fechado.
A Arábia Saudita é o berço do islão, a pátria do profeta Maomé, e o islão saudita é construído em volta da necessidade de salvaguardar os ensinamentos do profeta e os locais sagrados de Meca e Medina, onde ele viveu. A presença de infiéis é intolerável. À medida que os anos iam passando, fui vendo como a sociedade saudita é incrivelmente defensiva quanto a outras religiões. Até a bandeira do país anuncia abertamente: «Não Existe Outro Deus senão Alá.» Nenhuma religião a não ser o islão pode ser praticada no país, nenhuma Bíblia pode lá entrar e nenhuma oração colectiva é autorizada. Muitos trabalhadores estrangeiros, como Dita, a minha criada filipina católica, sofrem com esta imposição.
E há outras coisas sobre as quais a Arábia Saudita exerce um controlo quase paranóico nas vidas de milhões de estrangeiros que tem de importar para criar e operar a maquinaria da vida moderna. Todo o estrangeiro que entra no reino tem de ser patrocinado por um saudita, que lhe tira o passaporte para «guardar» e controla fortemente todas as suas acções. Nenhum estrangeiro pode sair do país sem autorização do seu patrocinador, cuja assinatura é necessária para a obtenção dum visto de saída. Os estrangeiros não podem possuir propriedades no país e para se estabelecerem num negócio devem ter um sócio saudita.
As mulheres que casam com sauditas acabam muitas vezes por ficar presas no país, porque os maridos - ou ex-maridos - não as deixam partir, e aos filhos também não. Sem a assinatura dum marido, não há visto de saída, e sem visto de saída não há como sair.
Vivendo na Arábia Saudita, sempre me senti um tanto clandestina, como se me tivesse introduzido no país com um pretexto e não pudesse mostrar a minha verdadeira natureza. Quando via mulheres como Najwah, Rabah ou Sheikha, sentia medo pelas minhas filhas. Aquelas mulheres não se irritavam com as restrições com que viviam: adoptavam-nas. Mesmo depois de muitos anos no país, mal conseguia entender essa terrível posição de auto-escravatura.
Na época, pensava que o destino das minhas filhas estava na Arábia Saudita. Amava o meu marido, vivíamos no país dele, as nossas filhas eram sauditas. Sabia que devia ensinar-lhes os códigos de comportamento que lhes facilitariam a vida quando adultas. Elas tinham de aprender, e o mais cedo possível, a funcionar como mulheres sauditas. O seu bem-estar e a sua paz de espírito podiam depender disso, bem como inúmeras pequenas liberdades que necessitavam de autorização masculina.
Todavia, por mais que tentasse, nunca consegui ensinar as minhas filhas a praticar o comportamento manipulador e falso que caracterizava as mulheres à minha volta. Talvez que, para o bem das crianças, eu devesse ter feito o esforço, mas sentia-me impotente para as preparar para a vida de mulheres sauditas. Detestava até pensar no assunto.
Quando conseguia reflectir sobre o futuro de Wafah e Na-jia, percebia que estava a criar as minhas filhas para se tornarem rebeldes na sociedade saudita. Sabia que podiam vir a sofrer por isso. Mas também receava, bem no meu íntimo, que elas se tornassem como Najwah e as outras - que escolhessem o caminho da religião estrita - e me abandonassem. Não queria que as minhas filhas se transformassem em estranhas mudas, de luvas pretas. Isso não poderia suportar. Não queria que as minhas adoráveis e alegres garotinhas crescessem assim.
Najwah era uma pessoa submissa por natureza, acho eu, e a maneira como foi criada tornou-a fatalista. Nunca se permitia querer mais da vida do que obediência ao marido e ao pai. Era uma coisa que me punha doida. Costumava pensar: «Deus deu-te braços, pernas e uma cabeça para pensar, por isso usa-os.» Sentia-me frustrada, como mulher, por estar rodeada de outras mulheres que, pura e simplesmente, não tinham coragem para resistir ao sistema.
Sheikha e Rafah eram corajosas, mas empregavam essa coragem na religião. Acho que era mais simples para elas do que lutar pelos seus direitos de seres humanos. A piedade dava-lhes a ilusão de terem poder. Acho que acreditavam que, se fossem estritamente religiosas, os homens - bem como as outras mulheres - as respeitariam. E parecia dar resultado, porque as mulheres religiosas recebiam realmente muito mais respeito do que as ocidentalizadas, como a frívola mulher libanesa de Hassan, Leila.
Para mulheres como Sheikha e Rafah, tenho a certeza de que a sua feroz piedade era uma questão de convicção pessoal. Mas era também em parte uma táctica necessária para elas, penso eu. Quando se vive em total dependência, é preciso aprender como influenciar o amo e senhor. Doutra maneira, talvez seja impossível sobreviver.
Outra esperança que as mulheres sauditas têm de influenciar os homens que as controlam reside na manipulação dos filhos, particularmente os rapazes. As mulheres eram sempre mais indulgentes com os filhos, e reparei que, na presença dum marido, elas se tornavam ainda mais atenciosas. A teoria era que um marido não se divorcia duma boa mãe, e um filho substituiria um dia o pai como seu guardião legal. Um marido podia divagar, morrer ou divorciar-se, mas um filho dedicado ficaria sempre do lado da mãe.
Não tive rapazes. E as outras mulheres Bin Laden - até Om Yeslam - não pareciam interessar-se muito pela maneira como eu criava as minhas filhas. Mas eu desempenhava o meu papel de nora, e tagarelava constantemente. Não havia outro assunto para uma discussão neutra, naquelas longas e aborrecidas tardes. Então, relatava que Wafah e Najia já sabiam rezar, que as levara a Meca, que aprendiam a língua árabe e já eram capazes de recitar esta ou aquela passagem do Alcorão. Mas Om Yeslam nunca fazia perguntas, e eu era obrigada a pensar que ela se interessava muito mais por Sarah, a filha de Fawzia.
Tentei fazer com que a avó amasse as minhas filhas, mas acho que nunca consegui, possivelmente por ser estrangeira. Um dia, muito mais tarde, quando Yeslam e eu já vivíamos numa casa muito maior em Gidá, Wafah estava a brincar com uma colega do colégio, meio inglesa, e atravessaram a casa a correr, molhadas da piscina.
- Ah, aquela garota estrangeira! - exclamou Om Yeslam, exasperada.
E eu respondi-lhe secamente:
- Somos todos estrangeiros para alguém.
- Não eu - declarou Om Yeslam, olhando-me de frente. - Não tenho uma gota de sangue cristão!
Eu, sim, tinha uma gota de sangue cristão, o sangue do meu pai. Tal como as minhas filhas. E o que Om Yeslam queria realmente dizer era que eu possuía a determinada e voluntariosa personalidade que provém de viver como um indivíduo, no Ocidente. Ela sentia que eu nunca conseguiria submeter-me como devia... ao islão, às regras da sociedade saudita e ao meu marido.
E estava certa.
Príncipes e princesas
Conheci a minha querida amiga Latifa em Genebra, num almoço com Fawzia e Majid. O convívio social na Arábia Saudita é complicado - podiam as mulheres sentar-se à mesa com um homem que não conhecessem? -, mas os Sauditas esquecem parte da sua complicada teia de restrições quando estão no estrangeiro, e homens e mulheres vêem-se na Europa com um pouco mais de liberdade. Yeslam e o marido de Latifa, Turki, apreciavam a companhia um do outro, de maneira que nos tornámos amigos, os quatro, a Latifa e eu ficámos íntimas.
Latifa era uma al-Saud, uma princesa. Já conhecia princesas, e nunca me sentira particularmente impressionada. As poucas com quem me cruzara haviam-me parecido banais e insuportavelmente superiores. Mas Latifa não era esse tipo de pessoa. Interessava-se pelos outros e não possuía a arrogância dos demais membros da família real saudita.
Latifa era alta e dona duma atitude lânguida, uma das mulheres mais belas que eu conhecera até essa altura. E era também muito diferente de mim, muito calada. Eu costumava brincar com ela:
- As paredes estão cansadas de ouvir só a minha voz, Latifa!
Era tão reservada que nunca falámos muito sobre a família governante - a dela - ou acontecimentos políticos.
Mas ela gostava de ter uma estranha por perto, alguém que não fazia parte da multidão de cortesãos dentro das intrigas da família real. E eu gostava dela, porque via nela uma verdadeira princesa árabe, não só por causa da incrível beleza mas também por qualquer coisa de profundamente nobre na sua maneira de ser.
Turki, o marido de Lsatifa, também membro da família real al-Saud, era tímido e bastante formal. No princípio, mesmo depois de se dar bem com Yeslam, eu percebia que achava difícil ficar sozinho comigo numa sala. Na primeira vez em que ele foi a nossa casa e descobriu que Yeslam ainda não chegara, tive praticamente de o obrigar a esperar dentro de casa. Sentou-se empertigado no sofá da sala, sem se atrever a olhar-me de frente. Uma coisa era ver-me sem véu em Genebra, e outra muito diferente estar a sós comigo numa sala de Gidá.
Turki adorava ir ao Ocidente. Gostava do afrouxamento das restrições e da liberdade de ser ele próprio e conviver naturalmente com mulheres e homens. Mas na Arábia Saudita voltava aos costumes. Tendo nessa altura vivido bastante tempo no país, vi que também para ele era difícil resolver as contradições de viver em dois mundos.
O príncipe Turki foi um dos poucos homens sauditas de quem gostei verdadeiramente. Mais tarde, quando deixei a Arábia Saudita de vez, ele apoiou-me, e sempre lhe estarei grata por isso. Também Latifa tem sido leal, a única mulher saudita do meu lado até hoje.
Latifa e Turki viviam no complexo do pai dele, numa das várias mansões construídas para os filhos. Não eram palácios. Ambos eram da família real, mas não dum ramo principal que um dia pudesse herdar o trono. Quanto a fortuna, Yeslam tinha provavelmente mais dinheiro do que eles.
O pai de Latifa, o príncipe Mansur, era um respeitado parente mais velho do rei Khaled. Quando viajava, solicitava a utilização do avião do próprio rei - um dos vários com uma sala de operações totalmente equipada e inúmeros criados. Não era fácil dizer não ao príncipe Mansur.
Era um homem severo, habituado a exigir completa obediência da filha. Quando Latifa tinha oito anos, o pai divorciou-se da mãe, que foi banida. Latifa só tornou a vê-la depois de casar com Turki, que permitiu que a sua nova esposa contactasse a mãe.
Mesmo em adulta, Latifa obedecia implicitamente ao pai. Uma vez, ele achou que a filha estava há demasiado tempo na Europa. Na altura, ele visitava uma das suas propriedades em Espanha e não queria vê-la, mas exigiu que ela regressasse imediatamente a Gidá. Apesar de o marido estar com ela na Europa, obedeceu à ordem do pai. Era meiga e esclarecida, mas a obediência fora-lhe incutida desde criança.
Latifa era uma pessoa maravilhosa, mas também uma boa mulher saudita, e aquela era a espécie de respeito devido ao patriarca da família. Ninguém contradiz o patriarca. Nem um filho adulto e com a sua própria família se atreveria a desobedecer... quanto mais uma filha.
Se vivesse na Europa, Latifa podia ter utilizado a sua inteligência, podia ter sido forte e livre, desenvolvido muito mais a sua personalidade. Mas, criada na Arábia Saudita, o seu carácter enfraquecera, abafado na submissão. Era muito fatalista. Quando alguma coisa corria mal, dizia:
- Não vale a pena pensar nisso. Está feito.
Não existia a mais pequena revolta dentro dela. Aprendera a não fazer perguntas, e acho que algo no seu espírito se quebrara. Conhecera a princesa Mish'al, a jovem mandada matar pelo próprio avô por se ter apaixonado, e esse era um dos assuntos em que Latifa se recusava até a pensar.
Tal como todos os outros milhares, talvez dez mil, príncipes e princesas sauditas, Latifa e Turki custeavam o seu estilo de vida quase totalmente com o que recebiam anualmente do Tesouro Público. Até as crianças recebem, segundo a idade, a posição no poder e o sexo. As raparigas recebem metade do que cabe aos rapazes. Além disso, todos os serviços públicos são de graça para os príncipes, e muitos (embora não Latifa, nem Turki) utilizam a sua influência em todas as camadas do Governo saudita para receber enormes percentagens de «comissões» desviadas de todos os principais contratos comerciais.
E esse o sistema saudita: uma acumulação de cada vez mais pessoas numa família real, que trata a riqueza petrolífera do país como seu erário pessoal. Abd el-Aziz ibn Saud, o primeiro rei, que criou a Arábia Saudita a partir do deserto, teve pelo menos dezassete mulheres. Quando morreu em 1953, deixou quarenta e quatro filhos. (Não me parece que alguém saiba quantas filhas teve. Aliás, até o número das esposas é assunto de especulação.) Antes de morrer, Abd el-Aziz dispôs a sucessão. Saud, o filho mais velho, sucederia ao pai como rei e seria assistido pelo segundo filho, Faiçal. Como em todas as importantes famílias sauditas, o mais velho toma as rédeas do clã.
Mas o rei Saud foi um desastre. Era esbanjador e mesquinho, enquanto o pai fora austero e sagaz. Em 1958, o descontentamento com o governo de Saud levou um grupo de importantes príncipes e chefes religiosos a intervir. Faiçal, o príncipe herdeiro, governou o país em nome de Saud durante dois anos, tentando limitar os vergonhosos gastos da família real, mas Saud voltou a controlar a situação em 1960. Após mais uns anos de governo de Saud, o país estava à beira do desastre financeiro. Quatro anos depois, as chefias religiosas emitiram o parecer de que Saud era incapaz de governar o país. Faiçal foi nomeado rei e Saud partiu para o exílio, vivendo na Europa até morrer em 1969.
O rei Faiçal era um homem digno e moderado, cujo governo é geralmente considerado como benéfico para o país. Mas em Março de 1975 - enquanto eu estava de cama na Califórnia, grávida pela primeira vez - foi assassinado a tiro por um dos seus sobrinhos, um radical islâmico.
Abd el-Aziz dispusera o padrão da sucessão, com o poder a passar do seu filho mais velho para o segundo. Portanto, seria lógico que o trono fosse ocupado pelo terceiro filho - o príncipe Mohamed, um homem violento e ferozmente conservador, que mais tarde se tornaria infame ao mandar matar a sua jovem neta, a princesa Mish'al.
Diz-se que a família real receava que a guerra ou a revolta estalasse se o príncipe Mohamed ocupasse o trono. Fosse qual fosse a razão, convenceram-no a afastar-se da sucessão, e Kha-led, o quarto filho de Abd el-Aziz, tornou-se rei por morte de Faiçal.
O rei Khaled era bastante moderado e paternal. Quando morreu dum ataque de coração em 1982, sucedeu-lhe o irmão, o príncipe herdeiro Fahd. Não estava a seguir na linha sucessória, mas a família real parece ter concluído que seria o candidato mais adequado.
Muito enfraquecido por múltiplos problemas de saúde, o rei Fahd ainda hoje ocupa o trono e será provavelmente seguido pelo seu irmão Abd Allah, que tem já mais de setenta anos. Mas nada é definitivo, porque a sucessão não é uma lei claramente expressa e sim o resultado de consultas e intrigas em conselhos secretos da família real e chefes religiosos. Diz-se que o rei Fahd (ou o seu clã) se opõe a Abd Allah, profundamente conservador e crítico da moral dissoluta e do esbanjamento da família. Consta que as lutas internas são intensas, numa estranha espécie de não sistema, e a incerteza da sucessão mantém uma enorme multidão de cortesãos em efervescência com boatos e lutas pelo poder.
Naturalmente que o clã Bin Laden é proeminente entre esses cortesãos. Salem já morreu - vítima dum acidente de avião no Texas em 1988 - e o controlo da família passou para o irmão, Bakr, aliado de Abd el-Aziz, o filho favorito do rei Fahd. Privilegiado entre os privilegiados na corte, a elevada posição e a pomposa atitude de Bakr sempre irritaram profundamente Yeslam.
Por volta de 1994, antes de termos metido os papéis para o divórcio, Yeslam confidenciou-me que o rei Fahd estava adoentado e era provável que o príncipe Abd Allah o substituísse. Disse-me ainda que este era o protector de Osama, que fora forçado a deixar a Arábia Saudita por ter condenado publicamente a vida dissoluta dos príncipes sauditas.
Osama partira para o exílio, no Sudão, segundo Yeslam. Aí formara um grupo de seguidores armados e vivia num complexo defendido por tanques de guerra. Em breve, quando Abd Allah tomasse o trono, seria a estrela de Osama a brilhar sobre a família Bin Laden. E então Bakr ia ver...
Isso foi antes de o nome de Osama ser ligado a uma série de ataques terroristas à Arábia Saudita e ao Ocidente. Desconheço por completo qual é a relação do príncipe herdeiro Abd Allah com Osama Bin Laden na actualidade. Mas sei o que Yeslam me disse.
Até agora, o rei da Arábia Saudita foi sempre um a seguir a outro idoso filho de Abd el-Aziz, fundador do país. Nenhum dos seus netos ocupou ainda o trono, possivelmente uma das razões para a Arábia Saudita nunca mudar. A família continua a aumentar, e Latifa disse-me que nasce todos os meses pelo menos um bebé al-Saud - bisnetos e trinetos, agora. Quando eu vivia na Arábia Saudita, os príncipes da família real eram já bem mais de quatro mil, e há quem diga que agora são mais de vinte e cinco mil.
Quando Abd el-Aziz ibn Saud se intitulou rei em 1932, a Arábia Saudita era terrivelmente pobre. O seu primeiro palácio foi feito com os tijolos de barro utilizados pelos camponeses. Nesse tempo, os xeques e os pastores beduínos tratavam-se pelos primeiros nomes, mas depois foi descoberto o petróleo ainda nessa década.
Sendo o país de Abd el-Aziz - de quem até recebeu o nome -, era, suponho eu, considerado natural que a riqueza petrolífera fosse principalmente para os seus filhos. Quando eu lá vivi, todos os membros da colossal família al-Saud recebiam dinheiro suficiente para viver muito bem.
Contudo, além disso, muitos dos príncipes, os mais próximos da coroa ou simplesmente os mais mercenários, sacavam enormes percentagens de grandes contratos comerciais para tudo, desde a construção de estradas ou a renovação dum aeroporto até à compra de armas modernas. Viviam numa extravagância inacreditável, como se o petróleo fosse a sua safra pessoal.
A prática principesca de sacar percentagens - o que, falando francamente, é corrupção - não era considerada imoral por qualquer saudita que eu conhecesse. Mas, ao mesmo tempo, era haram obter juros numa conta bancária, porque o Alcorão proíbe a prática da usura. Nunca consegui compreender contradições deste género, embora por vezes as achasse cómicas. Numa ocasião, um dos irmãos de Yeslam, Tareg, estava a dever uma considerável soma a um banco. Recusou-se a pagar juros, alegando que isso seria anti-islâmico e, tanto quanto sei, ninguém o obrigou a pagá-los.
Turki e Latifa não pertenciam às altas esferas do poder, e o seu estipêndio não se aproximava sequer dos milhões de dólares reservados anualmente para os irmãos e filhos do rei. Para aumentar esse rendimento, Turki dedicou-se à decoração de interiores. Nessa época, os decoradores apareciam em Gidá às dúzias, porque todos os príncipes estavam a arranjar as suas casas, numa espécie de frenesi - sabendo que era preciso, porque, toda a gente o fazia, mas sem saberem bem o motivo.
Havia uma feroz competição por causa das casas: enormes mansões, as mais deslumbrantes que o dinheiro pudesse comprar, eram superadas seis meses mais tarde por versões maiores e mais grandiosas. Havia mármore por todo o lado, vestíbulos do tamanho dos hotéis, lustres espalhafatosos... Era como entrar numa loja de móveis, sem harmonia, tudo demasiado grande e sem combinar.
Latifa e eu encontrávamo-nos para conversar e trocar cassetes de vídeo. Viajávamos para fazer compras. Uma vez, achou graça quando Yeslam e ela me incitaram a comprar um vestido de alta-costura maravilhosamente bordado na Chanel, em Paris, e eu disse que não suportava a ideia de gastar sessenta mil dólares numa coisa que na Arábia Saudita só podia usar uma vez. Latifa e eu chorámos juntas a ver A Escolha de Sofia. Conversávamos sobre os nossos maridos e, muitas vezes, eu ainda estava na sala dela quando apareciam parentes de visita, ao fim da tarde.
Diversas princesas sauditas que conheci, nessa altura e mais tarde, levavam uma vida de tal decadência e inércia que era difícil uma pessoa não ficar enojada. Criadas em completa obediência e absoluta idiotice, algumas, casadas com homens com várias esposas, pouco tinham a ver com os maridos. Outras estavam divorciadas. As crianças eram tratadas por batalhões de criadas, e as princesas, apesar de nada lhes faltar em termos de bens materiais, também nada tinham que fazer.
Como acontecia com as rainhas de França antigamente, as princesas viviam em casas ao lado das dos maridos. As casas das mulheres eram mais pequenas, com um portão só para elas. Às vezes, compartilhavam a cozinha ou um conjunto de empregados para as duas casas, mas para tudo o mais havia dois exércitos de criados - só criadas no lado das mulheres. Os motoristas eram homens, mas elas nunca saíam sozinhas com eles, sempre acompanhadas. Os únicos homens que aquelas mulheres viam eram os maridos e possivelmente os pais, irmãos e filhos.
As princesas levantavam-se a meio da tarde, vestiam-se, faziam telefonemas e talvez brincassem com os filhos. Depois, podiam ir às compras. Fazer compras pode ser um consolo para muitos males e era a principal actividade das princesas. Nessa altura, já havia lojas caras de artigos femininos, com empregadas libanesas ou egípcias, de maneira que era possível ver a roupa sem um véu preto a cobrir os olhos.
Dentro das suas casas, podiam usar mini-saias de Yves Saint-Laurent, profundos decotes e a cara descaradamente pintada. Dentro das suas casas, eram livres de fazer mais ou menos o que quisessem. Mas eram prisioneiras. Fora de casa, andavam completamente amortalhadas, como eu, na abaya. Era como levar a cadeia às costas.
Por essa altura, existiam alguns restaurantes na Arábia Saudita, e um ou dois apresentavam secções «familiares», onde um homem podia sentar-se com a esposa e os filhos. É claro que a mulher tentava comer completamente velada, sem expor um centímetro de pele enquanto enfiava garfadas de massa na boca. Outros restaurantes iam mais longe, com salas só para mulheres, onde podiam tirar o véu e o criado batia antes de entrar. Então, colocavam apressadamente o véu, o que se repetia de cada vez que chegava novo prato ou uma garrafa de Perrier. Era mais uma actividade para elas, essa estranha e triste versão dum restaurante.
Ao crepúsculo, as princesas visitavam-se ou preparavam-se para o jantar só de mulheres. Muitas vezes, ouvia-se o ruído do jantar a decorrer na casa do marido, ao lado, e a esposa talvez até lhe telefonasse, a aconselhar este ou aquele petisco. A conversa entre as mulheres era principalmente sobre roupa ou coscuvilhices. A ignorância dessas mulheres era abismal, como se nunca tivessem ido à escola. (Os filhos delas também eram ignorantes, porque nenhum professor podia disciplinar um principezinho.) A comida nunca era muito boa, mas era abundante: grandes guisados com feijão e arroz, e ornamentados cestos de fruta sem sabor.
Muitas das princesas viviam de comprimidos... receitados, claro. De cada vez que viajavam para Londres, iam direitinhas aos médicos chiques de Harley Street e internavam-se em clínicas para fazer inúmeros exames. Algumas possuíam ginásios em casa e piscinas interiores, mas nunca vi uma delas nadar. Eram mulheres que nunca viam a luz do dia.
Essa falta de luz do Sol e de exercício provocava-lhes problemas de densidade óssea. Além disso, sofriam do coração por comerem demasiado, e apresentavam uma colecção de sintomas psicossomáticos. Penso até que uma grande proporção dessas mulheres estava deprimida. Viviam ao lado de mandos que quase nada tinham a ver com elas - alguns com segundas esposas - e na terrível insegurança de um dia poderem ver-se divorciadas. Não possuíam qualquer responsabilidade e nenhum controlo sobre fosse o que fosse. Viviam na mais completa dependência, numa espécie de sonolência. Aquilo não era vida.
Se não me sentisse responsável pela educação das minhas filhas, talvez fosse capaz de aceitar aquela vida e ainda hoje estivesse no meio delas.
Algumas das princesas tinham casos amorosos umas com as outras. Apaixonavam-se perdidamente, ficavam ciumentas e andavam dum lado para o outro, amuadas. Parecia-me uma tristeza. Uma coisa é nascer-se lésbica, e outra muito diferente é procurar aí refúgio porque o marido não faz companhia e quase nada há para compartilhar. Muitas vezes perguntei a mim mesma se aquela promiscuidade não teria as suas raízes na dura segregação sexual que parecia tornar impossível um relacionamento natural entre homens e mulheres.
Todos ouvíramos rumores duma espécie de circuito de festas lésbicas em Riade, onde as mulheres conviviam e se escolhiam umas às outras. Eu soube duma mulher egípcia casada com um saudita altamente colocado que se apaixonou por uma princesa e ficou infelicíssima quando a princesa a deixou. Até se dizia que uma das mulheres do meu sogro, que vivia na capital, era lésbica. Mas é provável que em Riade corressem boatos idênticos a respeito de Gidá. Nunca vi essas festas, mas uma vez fui abordada por uma mulher. Era demasiado estranho para mim.
Suponho que a maioria dos homens não devia saber que as mulheres se deitavam com outras mulheres. Mas os que disso tiveram conhecimento se calhar também não se preocuparam. As mulheres não têm importância para um homem saudita. O que importa, e muito, é possuí-las, mas depois de fechadas e a procriar, o que acontece dentro delas pouco conta.
A homossexualidade é proibida na Arábia Saudita e punida com chicotadas em público, mas muitos homens têm relações homossexuais, especialmente quando são novos, antes de casar. Ninguém fica chocado por ver dois homens de mãos dadas na rua, embora as pessoas ficassem boquiabertas se vissem um marido dar a mão à mulher em público... e a polícia religiosa aparecia imediatamente brandindo bastões, O hábito da homossexualidade adolescente nem sempre desaparece, e nesse aspecto os príncipes al-Saud são como toda a gente - ou mais ainda. Correm boatos. Um decorador europeu que conheci em tempos disse-me que lhe parecia haver mais homens gay na Arábia do que na Europa.
Um saudita que conhecíamos bem - e cuja mulher conhecíamos igualmente bem - apareceu um dia na nossa casa da Suíça com um alemão muito gay sentado ao lado no seu Porsche azul. Não soube o que faziam juntos, se é que alguma coisa havia. Mas não me importava. As pessoas devem fazer o que querem. O que me aborrecia era saber que aquele mesmo homem teria ficado chocado com a ideia de aparecer na nossa casa com uma mulher que não fosse a sua. A hipocrisia é que me incomodava realmente.
Não conheci muitos dos príncipes al-Saud. Sei que as mulheres tinham os seus equivalentes masculinos - parasitas principescos com vidas de desperdício, ignorância e deboche. Ouve-se falar deles com frequência no Ocidente. Chegaram-me aos ouvidos histórias de aviões cheios de prostitutas de luxo vindas de Paris para passar o fim-de-semana. Não tenho a certeza se eram verdadeiras, mas seria muito difícil conseguir vistos e autorizações no aeroporto para passageiras dessas, a não ser que se ocupasse um posto muito elevado. Se houve festas dessas em Gidá, Yeslam nunca me falou delas.
No entanto, ouvi falar de cenas semelhantes passadas com príncipes internados em Genebra em clínicas de desintoxicação de heroína, álcool ou cocaína. E, como toda a gente, soube das faustosas festas pornográficas na Europa.
Nem todos os príncipes eram odiosos hipócritas. Há um lado respeitável nos al-Saud. No Verão, quando a corte se mudava para a Europa, Yeslam encontrava-se muitas vezes em Genebra com o príncipe Majid e mais tarde com o príncipe Meshal. Quando os trazia consigo para casa, eu retirava-me para o primeiro andar, porque eram da velha escola. Talvez não trabalhassem muito, mas possuíam uma aura de dignidade. A sua fé era inabalável e estavam profundamente ligados à cultura beduína.
Uma vez, ia eu pela rua, em Genebra, com um vestido pelo joelho, e avistei Yeslam com o príncipe Meshal no passeio do outro lado. Yeslam atravessou para falar comigo, mas o príncipe ficou onde estava e desviou ligeiramente o olhar. Mesmo na Suíça, não se olha para a mulher doutro homem saudita.
Quando me encontrava no estrangeiro, era livre e nada queria saber dos el-Saud na Europa. Suponho que Yeslam devia ter gostado que eu prestasse vassalagem às mulheres e comitivas dos príncipes, que muitas vezes alugavam andares inteiros dos melhores hotéis. Dei-lhes sempre o mínimo possível de atenção mas ocasionalmente até eu me sentia obrigada a fazer uma visita. Era como ser transportada para Gidá, e cheguei a encontrar um andar dum hotel de luxo de Genebra transformado em aposentos duma mulher saudita. Saída do elevador, dava de caras com criadas de Gidá, o pungente incenso de Gidá e os comportamentos de Gidá.
Uma vez, num jantar na Embaixada saudita em Genebra, fiquei sentada ao lado duma das filhas do príncipe Meshal, uma mulher espampanante e arrogante. Começou a contar uma história a respeito do rei Faiçal, que supostamente lhe teria dito que vira um homem fazer outro levitar. Voltei-me para ela e disse, embora não o fizesse num tom arrogante:
- Não acredito nisso.
A mulher ficou tão indignada com o desafio que me voltou as costas e não tornou a dirigir-me a palavra nessa noite.
Tal como tantos membros da realeza saudita, não tolerava uma contradição, sobretudo vinda duma estrangeira.
Quanto a mim, não me impelia o desejo de estar às ordens dessas mulheres, acompanhando-as nas suas exorbitantes viagens para as compras, vestidas como criaturas mascaradas doutro planeta. Para onde quer que fossem, transportavam a Arábia Saudita com elas... e eu não queria estar lá. Na Suíça podia ser eu própria, e agarrava-me à minha vida durante essas abençoadas poucas semanas, sem querer saber da Arábia Saudita.
A partida da Arábia Saudita
Os negócios pessoais de Yeslam iam de vento em popa, tal como a Organização Bin Laden. Toda a gente na Arábia Saudita parecia estar a ganhar dinheiro, com construções a surgir da areia numa escala faraónica praticamente todos os dias. Durante três anos, Yeslam foi o dono da única corretora na Arábia Saudita, e as importantes famílias de negociantes, bem como muitos irmãos Bin Laden, levavam-lhe o seu dinheiro para investir. (Nessa altura, a maioria dos príncipes sauditas não investia com Yeslam, porque não queria que outro saudita soubesse o valor exacto das suas fortunas.)
Mas Yeslam continuava a queixar-se das suas mazelas, e andava rabugento. O meu marido tornava-se infantil e exigente, centrado em si mesmo e nas suas doenças mais ou menos imaginárias. Recusava-se a acreditar nos médicos, que afirmavam que ele estava de excelente saúde, e desligava-se cada vez mais das coisas importantes, como as necessidades das crianças.
Ao princípio, sempre considerara a nacionalidade saudita de Yeslam um pormenor sem importância, mas ele ia ficando muito mais saudita, impondo-nos a sua cultura. As meninas estavam a crescer e Yeslam começou a criticar o seu comportamento e a exigir que se vestissem mais à saudita.
Gritava com as filhas por usarem roupa justa ou calções curtos, insistindo em que se mudassem antes de sairmos... mesmo em Genebra. Depois, quando se sentia doente, afastava-as e não queria saber de nós. Sempre me deixara orientar as crianças sozinha, mas parecia já não confiar no meu julgamento. No fundo, estava-se nas tintas.
Enquanto ele se tornava mais saudita, a Arábia Saudita tornava-se mais esquizofrénica. Os príncipes mais debochados continuavam a viver no luxo, enquanto a família real obrigava o povo a maiores restrições. As ideias extremistas começaram a implantar-se por toda a parte.
Algumas das irmãs Bin Laden queixavam-se de que os filhos estavam demasiado expostos a influências ocidentais, até que as de vistas mais curtas acharam a solução: criar um colégio feminino em Gidá, com uma instrução islâmica muito mais rigorosa. Convidaram-me a matricular lá Wafah e Najia e disseram-me que muitas das outras cunhadas já o haviam feito em relação às suas filhas.
Em tempos, talvez tivesse troçado da ideia ou tentado uma animada discussão com as minhas cunhadas para lhes explicar por que motivo achava que não tinham razão. Mas naquela altura limitei-me a sorrir e a murmurar que as minhas filhas gostavam do colégio que frequentavam. Já não podia arriscar-me, e sentia que não valia a pena. As esperanças duma verdadeira mudança haviam desaparecido completamente. Ninguém, nem sequer Yeslam, teria compreendido como me horrorizava a ideia de mandar as minhas filhinhas para um colégio ainda mais restritivo.
Nesse ano, poucos primos foram à festa de anos das minhas filhas, suponho que por as minhas cunhadas já não poderem suportar a música e a dança. Na opinião delas, as minhas filhas estavam a aproximar-se da puberdade e deviam comportar-se como futuras mulheres sauditas e não como tontas rapariguinhas ocidentais.
Yeslam e eu caíramos numa rotina de passar a totalidade das férias das crianças na nossa casa da Suíça. Tornou-se o nosso verdadeiro lar, para sempre, em 1985. Nesse Verão, as lutas pelo poder intensificaram-se e Yeslam não parou de se queixar de doenças, como habitualmente: tinha os pulmões fracos, o coração também não era forte e doía-lhe o estômago. Quando chegou Setembro e a altura de voltar para Gidá para o início das aulas, descobri que ele ainda não reservara os bilhetes de avião. Declarou que se sentia muito mal.
Os dias foram passando, e eu sentia-me aliviada por mais aqueles dias de liberdade, longe do sombrio ano escolar em Gidá. Mas, no fim de Setembro, as crianças começaram a ficar irrequietas e eu disse a Yeslam que elas precisavam de ter aulas em qualquer sítio. Se em meados de Outubro não houvesse planos de regresso a Gidá, seria obrigada a matriculá-las num colégio em Genebra.
Sustive a respiração. No dia 15 de Outubro, Yeslam ainda nada fizera. Sem dizer uma palavra, meti-me no carro e fui até um colégio internacional nos arredores de Genebra. Era um sonho: computadores, campos de desporto, aulas de arte, num colégio misto. A maioria das crianças vinha de famílias que trabalhavam nas Nações Unidas e era inteligente, alegre e destemida. Falei com o director, expliquei-lhe a situação e matriculei Wafah e Najia para aquele período. Depois, voltei para casa e disse a Yeslam que resolvera provisoriamente a situação escolar das nossas filhas.
No primeiro dia, foram de calças de ganga, como os outros todos. Vieram do colégio cheias de novidades. Havia rapazes na aula! Não tinham aulas de Religião, nem precisavam de continuar a aprender o Alcorão de cor, mas havia debates! As raparigas praticavam desportos: podiam jogar ténis e futebol! Podiam inscrever-se em aulas de música e de teatro! Estavam atrasadíssimas para a idade - em Francês, em Gramática, claro, mas também em Matemática e Geografia - mas encantadas. E eu também.
Tentei prevenir-me contra demasiada alegria, porque aquilo era bom de mais para durar. Tudo mudaria quando Yeslam decidisse levar-nos de volta para Gidá, e o regresso seria ainda mais duro para as garotas depois de viverem naquela liberdade. No entanto, por dentro, sentia-me rejubilar.
Em Novembro, Mikhail Gorbatchev e Ronald Reagan encontraram-se numa cimeira histórica na Suíça. A nossa aldeia, nos arredores de Genebra, viu-se cheia de tanques do exército, com múltiplos pontos de controlo na estrada, e o ambiente ameaçador fez Yeslam entrar em pânico. Disse que devíamos sair dali, que era muito perigoso ficar. Eu sabia muito bem que a nossa aldeia era provavelmente o local mais seguro do planeta naquele momento, uma vez que o presidente dos Estados Unidos se encontrava lá, mas não consegui argumentar contra o seu estado de alarme. Quis que fôssemos todos para Londres enquanto durasse a conferência.
As crianças acabavam de começar as aulas, e eu disse-lhe que não era justo tirá-las do colégio tão cedo, que não queria estabelecer um precedente. No fundo, ansiava por vê-las passar um período inteiro na Suíça. Então, para acalmar Yeslam, que se recusou a ir no avião sozinho, concordei em ir para Londres com ele, e arranjei uma professora para ajudar a minha fiel Dita, a ama filipina, a tomar conta delas.
Só quando estava já sentada no avião é que me dei conta de que o meu marido, persuadido de que a nossa casa estava em perigo, concordara em deixar lá as próprias filhas. Eu sabia que se encontravam seguras, mas ele acreditava que não e, apesar disso, deixara-as ficar. Segundo a lógica dele, abandonara-as. Observei-o, sentado ao meu lado. No dia em que estivéssemos realmente em perigo, pensei, seria ele o primeiro a fugir? Seria que já não se importava senão com ele próprio?
Yeslam ainda conseguia funcionar, pelo menos profissionalmente. Já possuía uma companhia com um escritório em Genebra, de maneira que começou a encontrar-se com os príncipes sauditas que lá iam passar férias, procurando-os como amigos e clientes, tornando-se uma espécie de braço direito deles. Conhecia pessoas na Embaixada saudita e na Saudia, a linha aérea nacional, que o mantinham informado de quem estava a chegar à cidade. Yeslam cumprimentava os príncipes no aeroporto e passava tardes e noites com eles, entre os quais se encontrava o príncipe Meshal, um dos grandes príncipes sauditas, irmão do rei Khaled e do seu sucessor, o rei Fahd.
Yeslam sempre foi maluco por roupa e devia ter mais de trezentos fatos. Naquela altura entrou em total desvario. Entre ele e o príncipe Meshal estabeleceu-se uma espécie de competição pelo título do mais elegante. Yeslam devia ter trezentos fatos todos feitos de encomenda, claro. Quanto ao príncipe Meshal, o meu marido sempre me disse que o rei Fahd lhe pagaria todas as despesas porque queria mantê-lo fora da sucessão, apesar do seu lugar. Pela idade, devia ser ele o sucessor do príncipe herdeiro Abd Allah, mas Fahd tinha outros planos para o reino, segundo Yeslam. E aquele era o preço que estava disposto a pagar: comprar o direito de Meshal a ocupar o trono.
Eu estava absolutamente encantada com os progressos das crianças no colégio, e elas sentiam-se muito felizes. No fim do período, os professores informaram-nos de que recuperavam rapidamente. Mas sentia-me impotente perante o comportamento errático de Yeslam. Ele tornava-se cada vez mais nervoso e distante e eu não era capaz de o ajudar. Não encontrava uma solução mágica para o problema.
A pouco e pouco, começara a sentir-me sozinha com o meu marido. Mesmo fisicamente presente, não se entregava no plano emocional. Os mais simples prazeres - ver as crianças brincar, nadar com elas ou ler - já não o interessavam. Comigo, queixava-se constantemente de não se sentir bem e quase só falava dos seus males e dos problemas da sua família. Apenas na companhia dos príncipes sauditas parecia sentir-se bem e alerta.
Quanto a mim, já não me sentia suficientemente forte para arcar com a responsabilidade duma família inteira sem ajuda. Queria sacudi-lo, tirá-lo do pânico em que se afundava, concentrado em si próprio e nos seus achaques. Preocupava-me com ele e sentia que precisava de ajuda profissional, mas não conseguia convencê-lo. É difícil ouvir alguém queixar-se de sintomas que parecem imaginários. Muitas vezes vestíamo-nos para sair, metíamo-nos no carro e daí a pouco parávamos e voltávamos para trás, porque Yeslam não era capaz de enfrentar o que planeáramos fazer.
Paradoxalmente, ele ia-se tornando mais saudita, estando nós a viver na Europa. Não sei se era por um sentimento de culpa que isso acontecia. Na Arábia Saudita, ele e eu partilhávamos a incompreensão pela sociedade saudita e dávamo-nos com ocidentais. Agora, a viver numa sociedade moderna, ele procurava a companhia de outros homens sauditas, aguardando ansiosamente a chegada dos príncipes. Parecia necessitar das suas raízes, e foi-se tornando muito mais dominador comigo e com as filhas.
Impôs restrições sobre o nosso vestuário - não demasiado curto nem destapado - e o nosso estilo de vida. Eu estava a viver no mundo livre, mas devia encontrar-se sempre à sua disposição. Nunca mais saí socialmente sem ele, que passou mesmo a acompanhar-me a almoços com amigas minhas. Numa sociedade fechada, Yeslam dava-me pequenas liberdades; ali, numa sociedade aberta, ficava tudo fechado.
Não sei se foi por influência dos homens sauditas com quem convivia, mas Yeslam começou a encontrar-se com mulheres. Numa Primavera, o telefone tocou e um homem disse:
- Diga ao seu marido que pare de andar atrás da minha mulher.
Era o marido da secretária de Yeslam. Fiquei destroçada. Pensava que ele estava com os príncipes quando voltava tarde para casa. Como não tinha muitos amigos homens, quando saía sem mim, supunha que era em trabalho. Percebi que me mentira e fiquei muito abalada.
Yeslam declarou que eu estava a ser histérica. Primeiro, negou, insistindo que nada fizera. Mas, quando eu ameacei deixá-lo, entrou em pânico. Acabámos por fazer as pazes, mas alguma coisa de muito negativo se instalara no nosso casamento.
Fiquei mais uma vez grávida, e soube que teria aquela criança, desse por onde desse. Era uma dádiva do céu. Quando Yeslam ousou pedir-me que fizesse outro aborto, senti-me enojada. Como podia ele pedir-me que repetisse o horrível procedimento, com as suas longas e tristes consequências? Nunca, disse-lhe eu. Dê por onde der. Nunca mais.
Olhando para trás, suponho que foi nessa altura que a família dele finalmente achou que eu lhe falhara. Segui em frente com o meu bebé, embora ele me tivesse pedido que não. E foi o fim do meu casamento: a minha recusa, a ira dele.
Porém, talvez o longo e triste processo que conduziu ao fim do meu casamento tivesse começado muito mais cedo, na Arábia Saudita, quando a ousada personalidade ocidental de Yeslam deu os primeiros sinais de estar a falhar. Pode ter sido também pela constante tensão entre os irmãos e a sua luta secreta por dinheiro, poder e prestígio, que o meu marido se foi abaixo. Após a rebelião de Meca, as coisas na Arábia Saudita nunca mais foram o que eram. E foi nessa altura, julgo eu, que as tensões entre o extremismo fundamentalista e as ideias de riqueza material vindas do Ocidente se tornaram insuportáveis; a altura em que a Arábia Saudita começou em certo sentido a perceber que a sua cultura se dividia numa moderna economia e um antigo código social - contradições que a cultura saudita não conseguia ou não queria resolver. E talvez fosse essa tensão que roía também Yeslam por dentro.
Ou então foi depois de deixarmos a Arábia Saudita que ele, paradoxalmente, se tornou mais saudita, por viver num país estrangeiro com a família e, com a idade, as raízes começaram a puxar por ele.
Fosse qual fosse o motivo - ou o momento em que o vento mudou finalmente de rumo -, a verdade é que Yeslam estava diferente. Durante toda a minha gravidez, mal falou comigo, mostrando-se frio, silenciador e ameaçador. Voltava para casa tarde, às três ou quatro da manhã. O meu marido era realmente um estranho para mim, nessa altura.
Quando o bebé nasceu, chamei-lhe Noor, a luz. E ela foi de verdade a minha luz, mais tarde, quando o mundo à minha volta por vezes me parecia tão escuro. Apenas com horas de vida, Noor era encantadora, com os enormes olhos abertos, nunca engelhada e encarnada como a maior parte dos bebés, mas calma e com o olhar límpido.
Yeslam esforçou-se por se mostrar atencioso depois do nascimento de Noor, tanto com ela como comigo. Insistiu em que eu saísse cedo da clínica, o que fiz, deixando lá o meu bebé com uma ligeira icterícia. E depois acompanhou-me pelo menos uma vez por dia, quando ia dar-lhe de mamar.
Uma parte de mim queria acreditar que Yeslam estava contente, mas o mais provável era ele saber já que tudo acabaria em pouco tempo, ou até ter outra mulher. Eu compreendia que alguma coisa se rompera entre nós, e não sabia o que fazer para a consertar. Passei horas ao telefone com Mary Martha, à procura de consolo.
Noor nasceu em Abril de 1987. Em Setembro, vi Yeslam com outra mulher. Nessa noite, incapaz de dormir, como me acontecia frequentemente nos últimos tempos, peguei no carro e fui dar uma volta pela cidade. (Por qualquer motivo, os carros sempre me acalmaram.) Ao passar pelo escritório de Yeslam na baixa, avistei o carro dele, de maneira que estacionei e fiquei à espera. A uma da manhã, vi-o sair, com uma mulher.
Enfrentei-o. Ele negou conhecer a mulher, mas era óbvio que mentia. Percebi que devia deixá-lo, mas não conseguia magoar as crianças. Acima de tudo, receava que ele tentasse tirar-mas e levá-las para a Arábia Saudita. Combalida com o nascimento de Noor e pela solidão da minha gravidez, sentia-me esgotada e incapaz de enfrentar a batalha que sabia que me esperava.
Então, numa tarde, ele trouxe-me um acordo legal para assinar. Era uma espécie de contrato pré-nupcial, no nosso caso, pós-nupcial. Yeslam disse-me que era para a segurança das crianças. Quando hesitei, dizendo que não via como era que aquele papel ia proteger as crianças, ele ficou furioso.
- Olha, eu não queria a Noor, e tu foste em frente à mesma - disse ele. - Se não queres ter problemas e que eu a aceite, assina isto!
Eu estava um farrapo, física e mentalmente. A minha solitária gravidez e os últimos meses de tensão nervosa tinham-me esgotado. Yeslam ameaçou-me, repetindo constantemente que me tirava Wafah e Najia. Pressionou-me sem cessar. Eu sabia que, segundo a lei suíça, ele podia levar as crianças de férias sem mim. E sabia também que, se elas pusessem os pés na Arábia Saudita, nunca mais as veria e nenhum governo deste mundo as tiraria de lá.
Senti-me encurralada pelo meu próprio marido. A única coisa importante para mim era que ele não tocasse nas minhas filhas. Cedi e assinei o documento, por medo e para conseguir alguma paz. Em primeiro lugar, precisava de acabar com a perseguição de Yeslam.
No entanto, as coisas só pioraram depois de eu assinar o documento. Ele não mudou, como eu esperara, e mostrava-se cada vez mais distante, raramente estando em casa. A minha saúde ressentiu-se e comecei a perder peso, porque não conseguia comer. Mal podia tratar das crianças. Fui hospitalizada durante uns dias em Outubro para ser alimentada a soro. Pesava quarenta e cinco quilos.
Nesse Natal, tentando manter uma aparência de vida familiar normal para as crianças, levei Noor e as mais velhas às montanhas. Yeslam devia ir lá ter connosco, mas telefonou a dizer que o príncipe Meshal estava na cidade. Por um lado quis acreditar nele, mas sabia que era mentira.
Na noite do fim do ano, Yeslam saiu mas voltou para casa cedo. Adormeceu, no quarto dele - começáramos a dormir separados -, e o telefone tocou várias vezes, mas desligavam sempre que eu atendia. Fui acordá-lo e disse-lhe que devia ser alguém para ele. Na manhã seguinte, saiu cedo e, quando voltou, disse que provavelmente fora uma estúpida brincadeira de Ano Novo.
Eu estava vulnerável, mas não era imbecil. Podia ter reagido doutra maneira se tivesse sido honesto comigo, mas não aceitava as suas mentiras descaradas. Tivemos uma discussão, com ele furioso e eu a pedir-lhe que se fosse embora. Finalmente, foi, batendo com a porta.
E assim, no dia de Ano Novo de 1988, a minha vida mudou.
O que se seguiu foi amargo e esgotante, e não vejo qualquer vantagem em demorar-me sobre esses acontecimentos. As minhas filhas e eu ficámos na Suíça. A família Bin Ladin rejeitou-as totalmente. Uma vez, fui visitar o irmão dele, Ibrahim, que fora meu amigo, e pedi-lhe que intercedesse junto de Yeslam. Mas ele respondeu:
- Por mais que tenhas razão, Carmen, o meu irmão nunca se engana.
Doutra vez, Najia avistou Om Yeslam - sua avó - com Fawzia, sua tia, numa rua de Genebra. Mas as duas mulheres viraram a cara à minha filhinha, que crescera na companhia delas. Nenhum dos Bin Laden, mesmo aqueles que pareciam gostar da minha companhia, alguma vez teve a força de espírito suficiente para se opor a Yeslam e contactar-me ou às crianças que haviam visto crescer.
O nosso divórcio tem sido uma coisa espantosa. Yeslam dedica todo o seu poder e dinheiro a um esforço colossal para me manter sob controlo e exercer a sua vingança. Embora tivesse prometido não o fazer, exigiu o direito de levar Noor para a Arábia Saudita - não Wafah ou Najia, provavelmente por calcular que elas se recusassem a acompanhá-lo. Lutou com unhas e dentes por cada pormenor, arrastando o procedimento legal pelo período de tempo mais longo possível, para poder esconder os seus bens e privar as crianças e eu própria do seu apoio financeiro.
O pior momento da nossa longa história ocorreu depois de me ter sido confiada a custódia das crianças, quando ele afirmou não ser o pai de Noor. Foi um procedimento tão baixo da parte dele, que não há palavras para o classificar, e extremamente humilhante... para mim e sobretudo para a pequena Noor. É difícil entender como alguém pode fazer uma coisa dessas, afirmando uma evidente falsidade, como provámos.
Tive de pedir que fossem feitos testes de ADN a todos nós, para confirmar que Yeslam estava a mentir e Noor era realmente filha dele. Ela tinha já nove anos. O teste foi feito a todos e, quando Yeslam entrou na clínica, encontrávamo-nos as duas no gabinete do médico. Wafah increpou-o, perguntando como podia ele fazer uma coisa daquelas. Yeslam ignorou-a e passou pelas duas filhas mais velhas sem lhes dirigir a palavra.
E, a partir daí, nunca mais falou com qualquer das três filhas ou comigo.
Porém, a luta continua até hoje. Estamos legalmente separados, Wafah e Najia são legalmente adultas e Noor está segura sob a minha custódia. Mas Yeslam ainda resiste a um acordo monetário, lutando contra todos os passos que tenho dado, até que cada uma das minhas pequenas vitórias fica com um travo amargo. Por vezes, sinto-me como David, com Yeslam como Golias.
Se estivéssemos na Arábia Saudita, o divórcio teria sido muito simples para Yeslam, assunto arrumado em menos de meio dia, e eu sem as minhas filhas para sempre. Mas estávamos na Suíça, e um homem acreditou em mim - o meu advogado suíço, Frédéric Marti.
Yeslam vive actualmente em Genebra, tal como eu. Quando vê as filhas, olha através delas. Recusa qualquer contacto e até tentou impedir que elas frequentassem a universidade... por, segundo ele, não ver nisso qualquer utilidade.
Yeslam pediu a nacionalidade suíça no fim da década de 1990, o que provocou grande celeuma no país. Mas em 2000 - por alguma razão - obter um passaporte suíço tornou-se subitamente muito importante e urgente para ele. Então, encenou uma elaborada campanha nos meios de comunicação, declarando que precisava de ter a certeza de poder viver na Suíça para poder manter um contacto estreito com as filhas
- isto apesar de na realidade ter cortado qualquer contacto com elas durante anos. Não posso deixar de pensar que se serviu das filhas para favorecer os seus interesses. E em Maio de 2001 ganhou o seu passaporte suíço.
No entanto, qualquer que seja a sua nacionalidade, agora Yeslam é um verdadeiro saudita.
Tem-nos perseguido incessantemente com processos. Por duas vezes recebi assustadoras cartas oficiais da Arábia Saudita, exigindo que me apresentasse num tribunal em Gidá. Quando o meu advogado pediu uma explicação, Yeslam afirmou ser para um divórcio saudita. Mas eu sabia que ele estava a mentir, visto que um divórcio saudita não requer a presença da esposa. Deduzi que me acusava de adultério.
Na Arábia Saudita, a sentença para esse crime é a morte.
Se me acusou realmente de adultério, como penso, Yeslam não me excluiu só da Arábia Saudita, mas de todo o Médio Oriente. Receio pôr os pés mesmo em qualquer país muçulmano com ligações legais com a Arábia Saudita, pois posso ser extraditada, e porque estaria à mercê dum sistema legal disposto a executar uma sentença de morte sobre uma mulher inocente. Na realidade, receio pela vida.
Cheguei à conclusão de que lidar com o meu divórcio incrivelmente demorado é o preço que tenho de pagar pela liberdade das minhas filhas. Embora esteja a ser uma longa e amarga luta, não me parece um preço demasiado alto a pagar pela preciosa certeza de que as minhas três filhas podem agora viver como quiserem.
A rejeição de Yeslam magoou-as imenso enquanto cresciam. E ainda estão a pagar um pesado preço emocional. A rejeição, sobretudo a dum pai, é uma coisa muito difícil de suportar para uma garotinha. A admiração e o amor dum pai são importantíssimos, e eu sei um pouco como é. Eu própria senti esse sofrimento e uma terrível culpa, em criança, quando o meu pai nos deixou. Eu própria pensei que aquilo sucedera por minha causa. E custa-me muito ver o mesmo acontecer às minhas filhas.
Por vezes, penso se Yeslam cortou relações com as filhas por os valores sauditas lhes serem estranhos. São inteligentes, cultas, bonitas; são mulheres livres. Talvez as veja apenas como peões - instrumentos que pode utilizar contra mim. Ou até como inimigas. Talvez, para ele, pareçam indignas da sua atenção, por serem mulheres ocidentais, voluntariosas e independentes, ou por serem minhas e termos de ser inimigos.
A luta para ficar com as minhas filhas fortaleceu-me. Mas acho que Yeslam mudou muito mais do que eu. Ou talvez ele fosse sempre um saudita - cruel, egocêntrico e arrogante - e os seus antecedentes sauditas viessem ao de cima com a idade. Eu estava cega diante da realidade, encantada e tonta, imaginando uma história de amor onde existia apenas uma luta pelo poder e pelo domínio. Assim que desobedeci, o meu sonho desfez-se em pó, e o meu príncipe encantado voltou-se contra mim. Afinal, tudo não passara dum conto de fadas saudita, e a força do meu castigo tem sido suportada pelas minhas filhas.
Wafah e Najia são adultas agora, e Noor quase. Decidimos manter o nosso apelido, o de Yeslam. Apesar de tudo o que aconteceu entre nós, ele continua a ser o pai das minhas filhas. E o nosso nome é Bin Ladin. Em tempos, foi um nome como outro qualquer. Hoje, tornou-se sinónimo de violência cega e de terror. É claro que podíamos tentar mudá-lo, mas as minhas filhas e eu nada temos a esconder e não pretendemos enganar seja quem for. A verdade acaba sempre por apanhar as pessoas, e mudar o nome não mudaria quem nós somos. Se as minhas filhas um dia voltarem à Arábia Saudita, será por sua própria escolha, como foi a minha, tantos anos atrás. Porém, enquanto mãe, espero com todas as fibras do meu corpo que nunca voltem.
Conclusão
Para muita gente, o 11 de Setembro de 2001 marcou o início de uma nova era. Milhares de pessoas inocentes perderam a vida e inúmeras outras vidas sofreram danos irreparáveis. Foi uma espécie de toque de alvorada. Esse dia abriu os olhos do Ocidente para uma vasta e poderosa ameaça latente da qual poucos tinham consciência. Pela primeira vez, o mundo ocidental teve de medir a força do fundamentalismo islâmico para lhe abalar os alicerces. Osama Bin Laden e os seus seguidores, que são milhares, conseguiram tomar a nossa liberdade como refém.
O ataque ao World Trade Center roubou-nos a todos certa inocência. Nunca mais será possível apanhar um avião sem uma sensação de apreensão. Já não estamos seguros. Ninguém pode na verdade sentir-se seguro actualmente, e com certeza não as minhas filhas e eu própria.
Vivi dentro do clã dos Bin Laden; analisei o funcionamento da sociedade saudita. E temo pelo futuro do mundo livre. O meu medo - e indignação - apoia-se na convicção de que uma grande maioria dos sauditas apoia as ideias extremistas de Osama Bin Laden, e que os Bin Laden e a família real saudita continuam a trabalhar lado a lado, embora as suas relações sejam por vezes demasiado complexas para que as suas convicções convergentes sejam visíveis.
Não posso acreditar que os Bin Laden tenham cortado completamente com Osama. Pura e simplesmente, não consigo vê-los a privar um irmão da sua parte anual na empresa do pai, dividindo-a entre si. Isso é impensável, porque, entre os Bin Laden, faça um irmão o que fizer, continua a ser um irmão.
E é certamente possível que Osama mantenha ligações com a família real.
Os Bin Laden e os príncipes trabalham juntos, em estreita colaboração. São fechados e unidos. Estão inextricavelmente ligados há muitas décadas através de amizades íntimas e de empreendimentos comerciais. A maioria dos irmãos Bin Laden está associada em negócios e na directa aplicação de capitais a pelo menos um príncipe saudita. Por exemplo, Bakr é sócio de Abd el-Aziz ben Fahd, o filho preferido do rei: e Yeslam tem uma ligação privilegiada com o príncipe Meshal ben Abd el-Aziz.
Ambos os clãs querem que acreditemos que não têm qualquer ligação com Osama Bin Laden e os bárbaros actos que conduziram ao 11 de Setembro. No entanto, para além dalgu-mas declarações públicas condenando a tragédia, nenhum dos clãs se esforçou por provar que não deu apoio moral e financeiro a Osama Bin Ladin e à Al Qaeda no passado e que não estão a fazê-lo no presente.
Não posso deixar de perguntar a mim própria como é que, num país onde não existem impostos e onde é prática comum e aceite transferir - apenas em nome - bens dum irmão ou irmã para outro, segundo as necessidades e os interesses do momento, alguém iria ao ponto de tomar medidas tão elaboradas para esconder bens em empresas offshore. Desafio abertamente a classe governante saudita - os Bin Laden e a família real saudita - a abrir os livros e a provar ao mundo a sua posição. No actual e precário, clima político, ninguém pode esconder-se por detrás da fraca desculpa da privacidade. Penso que é dever de todos e de cada um de nós fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para lutar contra o terrorismo.
Trata-se de gente que sente desprezo pelo mundo exterior. No plano individual, alguns podem dizer-se liberais, mas as crenças e a ideologia da sua cultura estão profundamente enraizadas neles desde tenra idade e é impossível escapar-lhes.
Os Sauditas não discutem abertamente uns com os outros. Por vezes, a sede de poder, a ganância e os interesses materiais separam os irmãos numa família como os al-Saud ou os Bin Laden. No entanto, voltam a unir-se pelos laços das suas ideias e convicções religiosas, bem como pela educação que receberam.
Osama Bin Laden e outros como ele não brotaram, já formados, das areias do deserto. Foram feitos. Foram fabricados pelo funcionamento duma sociedade medieval, opaca e intolerante, fechada para o mundo exterior; uma sociedade onde metade da população viu os seus direitos básicos como pessoas serem amputadas e onde a obediência às mais estritas regras do islão tem de ser absoluta.
Apesar de todo o poder que o petróleo lhes dá, os Sauditas são estruturados por uma visão detestável e retrógrada da religião e por uma educação que é uma escola de intolerância. Aprendem a desprezar tudo o que seja estrangeiro: o não muçulmano não conta. As mães estragam-nos até à arrogância. Mas depois todos os seus instintos naturais são negados por infindáveis e opressivas restrições. A obediência ao patriarca é absoluta e, quando se tornam pais, a sua palavra é lei.
Quando Osama morrer, receio que haja mil homens para ocupar o seu lugar. A Arábia Saudita assenta num solo fértil para a intolerância, a arrogância e o desprezo pelos estranhos. É um país onde não há lugar para indulgência, piedade, compaixão ou dúvida. Cada pormenor da vida está absolutamente definido, cada inclinação para o prazer natural e a emoção é proibida. Os Sauditas estão absolutamente convencidos de que têm razão: dirigem as nações islâmicas, nasceram na terra de Meca e o seu caminho foi escolhido por Deus.
Nunca conheci um saudita que na verdade admirasse a sociedade ocidental. Nem sempre parecem abertamente hostis, embora se mostrem muitas vezes condescendentes e arrogantes. Estão sempre ansiosos por utilizar a nossa tecnologia, e compreendem os sistemas políticos, mas, no fundo, existe apenas desdém pelo que consideram os valores ímpios e individualistas e as imprudentes liberdades do estilo de vida ocidental.
No entanto, existe muito abuso de drogas e promiscuidade na Arábia Saudita. Há homossexualidade e sida. E há também com certeza muito mais hipocrisia do que em algum local no Ocidente em que eu tenha estado. Mas não são coisas abertamente manifestadas ou discutidas com franqueza. Parece que, para os Sauditas, o que está escondido não existe.
Deve haver génios desperdiçados nesse povo. E talvez Osama seja um deles. Mas, apesar de viver no século xxi, não utiliza a sua força e o seu poder para aproximar as pessoas, para promover a boa vontade e a tolerância. Em vez disso, escolheu a discórdia e a destruição.
Finalmente, acho que o que modelou Osama foi a estrita doutrina vaabita. Na minha análise e experiência, uma vasta maioria de gente na Arábia Saudita pensa exactamente como ele. Aos seus olhos, é impossível ser-se demasiado religioso. Não têm espaço para crescer como indivíduos; estão desesperadamente irados contra o Ocidente pelas suas inúmeras e irresistíveis tentações, e recusam evoluir e adaptar-se. Para eles, é mais fácil esmagar essas tentações, destruí-las, matá-las, como um adolescente rebelde. Espero enganar-me mas, infelizmente, penso que os fundamentalistas que lucram com a riqueza petrolífera da Arábia Saudita vieram para ficar. E parece-me que, se nós no mundo ocidental não estivermos suficientemente vigilantes, o seu terrorismo não vai ter fim. Eles vão aproveitar-se da nossa tolerância para invadir a nossa sociedade com a sua intolerância.
Durante os longos anos que passei na Arábia Saudita e nos anos de conflito que se lhes seguiram, lutei para continuar a ser o que sou e para dar às minhas filhas o que não tem preço: a liberdade de pensamento. Espero ter feito a escolha certa. Não sei se é uma coisa tão importante para elas como para mim, e suponho que, quando era mais nova, talvez eu também a considerasse menos importante. Porém, quando senti que ma retiravam, quando receei que ela se me escapasse dos dedos, percebi que era a única coisa que não podia tolerar.
Vi demasiadas mulheres perderem até o direito de ver os filhos, forçadas a submeter-se aos maridos, simplesmente por não terem escolha. E vi homens divididos entre a ambição e os desejos, dum lado, e o treino de autonegação e obediência às tradições da sua sociedade, do outro.
Às vezes, pergunto a mim própria se teria lutado contra o clã Bin Laden com menos ferocidade se tivesse tido apenas rapazes. Materialmente, era em muitos aspectos uma existência agradável. Mas, por muito que as coisas materiais me tentem, há uma coisa que tem mais importância: a liberdade.
Estou consciente de que, por me atrever a falar, vai ser declarada guerra a mim e às minhas filhas pelo poderoso clã Bin Laden e pelo sistema governante. Vão surgir processos, a nossa integridade vai ser questionada e a nossa credibilidade desacreditada. Para eles, é um crime nós, mulheres, aspirarmos à liberdade de pensamento e à protecção dos nossos direitos básicos como seres humanos.
Mas nós lutaremos também, e a nossa defesa é a defesa da verdade. A nossa serenidade, o nosso bem-estar, a nossa mais básica sensação de segurança foram destruídos e enterrados no 11 de Setembro de 2001. Agora, mais do que nunca, é tempo de falarmos e nos erguermos acima das mentiras e da duplicidade que tornaram possível tal tragédia, de tentarmos proteger o nosso futuro.
Apesar de tudo aquilo por que passámos e seja o que for que o futuro nos guarde, quero que as minhas filhas saibam que nunca me arrependerei de ter dito sim ao pai delas. Muito nova, aceitei-o e ameio-o loucamente. Para infelicidade minha, descobri que, como mulher e mãe, não podia aceitar as ideias e valores que constituíam uma parte tão importante dele. Quero que as minhas filhas saibam que estou convencida, no fundo do coração e da consciência, de que ao dar-lhes os meus valores lhes fiz a dádiva mais valiosa de todas: a liberdade. Para mim, nunca haverá melhor recompensa do que ser capaz de olhar para as minhas belas filhas e dizer: «Wafah, Na-jia, Noor, vocês são livres para viverem como quiserem e, acima de tudo, livres para serem quem quiserem ser.»
Carmen Bin Ladin
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















