



Biblio VT




Ruidoso, o comboio da linha do Douro começa a afastar-se de Campanhã. Estrangeiros enchem-no, janelas abertas, de máquinas fotográficas e regozijos irreprimíveis.
A paisagem que os recebe é das mais deslumbrantes do mundo. E trágicas — mas isso eles não sabem.
Eu sei. O Douro foi o universo onde me criei e onde, décadas atrás, quase morri afogado numa tarde de calor e imprudência.
Regresso-lhe em viagem de revisitação - e que mudado ele está! Enseadas, ancoradouros, motas de água, paquetes de luxo, barragens fazem-no lago sobre o velho e bravo e indomável rio da minha infância.
Sempre que o tempo afeiçoava, corria para a sua água de limbos e seixos.
Andava na quarta classe. As varandas da escola rasgavam-se sobre o rio ladeado pela estrada, à esquerda, e pelo caminho-de-ferro, à direita.
Sabia-lhes todas as referências: do rio, a nascente, os afluentes, as cores das correntes, barrentas no Inverno, verdes no Verão; da estrada, os sítios dos barrancos e dos cruzamentos, as variações nas lombas e no asfalto, as valas e as fendas arreliadoras do Ti Simão, cantoneiro de permanentes empenhos; do caminho-de-ferro depressa fixara o nome das estações e apeadeiros, o modelo das composições e fardamentos, a capacidade de cargas, as paragens, os horários.
Passava horas nos remos do Ti Tomás, barqueiro de sabedorias fascinantes, toda uma existência a passajar as águas do seu, nosso rio — inesquecíveis tios Simão e Tomás, que me ensinaram da vida mistérios e glórias ímpares.
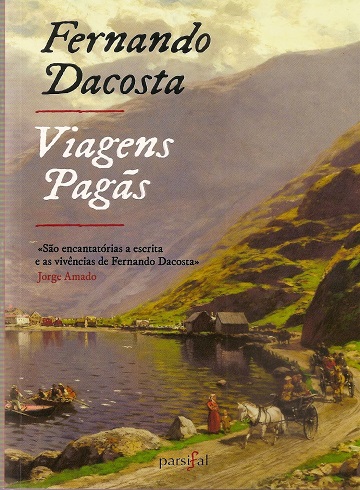
As estações dos comboios tinham coberturas de cimento e ferro, e relógios de mostradores duplos, e guichets de rede apertada como galritos. Do lado de lá, o homem dos bilhetes fazia-se peixe sem água, «Uma terceira para Campanhã! Ida e volta, se faz favor», a retirar rectangulozinhos de cartão, azulados uns, cor-de-rosa outros, cinzentos os demais (havia três classes: primeira, para os ricos; segunda, para os remediados; terceira, para os pobres), a medi-los, a carimbá-los, a anotá-los.
Quando ia ao Porto, subia os degraus da última carruagem e sentava-me num banco de madeira, à janela. Em breve a composição corria a pique sobre o rio, placas avisavam
«É proibido debruçar-se»
e logo me debruçava, fascinado com a imagem reflectida do comboio comigo a olhá-la, a olhar-me.
Foi então que senti pela primeira vez a pulsão da morte. Inclinava-me um pouco mais e
via-me a cair. O vento e o vácuo no rosto diziam-me que o meu fim iria ser na água, em lugar suavíssimo, melhor que no cascalho de uma campa de cemitério.
Debaixo da terra há escuridão e vermes, detestava os vermes, mil vezes os peixes e os pássaros, e os patos que voam e nadam.
Nas bateiras do Pinhão existiam muitos. Os caçadores traziam-nos com fartura, gostava de reter a sua carne aos pedacinhos, sem ossos, e a dos peixes, sem espinhas, na boca, na garganta, maneira de me sentir pássaro, de me imaginar peixe deslizando pelo vale do rio, para cima e para baixo, por cima e por baixo.
O Douro não era só um rio, era também um mundo, à volta do qual ele parecia uma via láctea de recordações, infâncias, rostos, locais, cheiros.
A infância ficou-me na dimensão desse universo delimitado pelas aldeias onde cresci: Segões (povo de neves, de azuis, de granitos, de planaltos, de uivos de lobos e vento de pinheiros), Folgosa (meio caminho entre Régua e Pinhão, rente ao rio, as cheias, as vindimas, os quelhos empedrados, os socalcos das vinhas, os braseiros do estio, quarenta graus em Agosto, «pior que Angola», diziam os africanistas em férias) e a adolescência por Lamego, a cidade verde e molhada, o liceu, a alameda, as verbenas, as transgressões, o teatro, oh, o Teatro Ribeiro Conceição!, lindíssimo, mais do que igrejas, palácios e castelos.
Nele vi cinema pela primeira vez, vi actores, vi cantores, vi Amélia Rey Colaço, Laura Alves, Eunice Muñoz, Carmen Dolores, mais tarde amigas e intérpretes de peças minhas.
E nele, Teatro Ribeiro Conceição, vi Amália. Uma noite ela chegou, saiu de uma carrinha preta, vestido preto, entre guitarristas, flores, sorrisos, palmas - nem os paramentos do bispo, nem os das santas, Senhora dos Remédios, Senhora do Arcozelo, Senhora da Lapa, Senhora do Socorro, nem as capas da senhora baronesa, proprietária das maiores quintas da região, a igualavam no porte, no deslumbramento.
No final deu-nos (ao Fernando Marado e a mim) fotos autografadas - que lhe mostraria, divertindo-nos, num dos inesquecíveis serões da sua casa de São Bento.
Segões, Folgosa, Lamego, Soutosa, Moimenta, Armamar, e Vila Seca, e Galafura, e São Leonardo, e Cambres, e Castro Daire, lugares atravessados de romarias, de carrosséis, de missas, de zaragatas, de ranchos, de tendeiros, de saltimbancos fizeram-se-me universos quentes e gordurosos, iniciáticos e sensuais.
Vejo hoje com curiosidade o suceder das gerações, o mudar dos costumes, das músicas, das comidas, dos divertimentos. Os que nascem daí a nada estão velhos, já não os localizo, nem aos filhos. Casas e árvores desaparecem todos os dias, vivendas e plantios multiplicam-se, a paisagem altera-se, ressaibram-se montes e mortórios, abrem-se auto-estradas, plantações novas brotam por todo o lado, e blocos de habitação, e supermercados, e discotecas, e geladarias.
Parabólicas fazem íntimo o longínquo. Não são mais precisos os relatos dos emigrantes, sobretudo os de França e os da Alemanha, antes eram os do Brasil e Africa, não são mais precisos os relatos dos que partiram para se saber o que se passa distante, a TV mostra-o em directo, sem sobressalto.
A televisão chegou à aldeia pelo senhor prior. O senhor prior já não era prior - fora. A fortuna de uma viúva a que assistia de confessor, doada ao expirar, permitira-lhe trocar os ofícios da religião pelos do granjeio da quinta, mais de cinquenta pipas de malvasia e verdelho, letras A e B, benefício folgado, casa apalaçada, capela, dornas, lagar, olival.
Foi o primeiro na região a comprar automóvel, um gigantesco Fiat que jazia incólume em armazém de toldos e tonéis. Fez a viagem do Porto ali, cento e vinte e quatro quilómetros, e nunca mais saiu, rodou sequer.
Foi também o senhor prior o primeiro a comprar rádio. No dia 13 de Maio punha o aparelho na varanda, o som no máximo, cânticos, ladainhas,
«Avé, Avéééé Mariiiiiiia...» atravessavam o rio, ouviam-se em Covelinhas, aldeia fronteiriça; coros de mulheres do outro lado respondiam «Avé, Avéééé Mariiiiiiia...», atribuindo a milagre da Senhora de Fátima a caixa falante do senhor prior.
Só muito mais tarde o Chico da tasca poria, sobre prateleira de fumeiros, telefonia e televisor. Foi assim que o povo se habituou à Revolução e à telenovela, e às coisas demenciais que passaram a incendiar o mundo.
Na mesma altura chegaram o peixe e o frango congelados, e as botijas de gás. Com eles a vida mudou. Constituíram, rádio, TV, congelados e gás, o maior progresso que o Douro conheceu - a existência dentro das casas deu um salto em comodidade, em recursos, em distracções.
Camionetas traziam todas as manhãs de Matosinhos caixas de carapau e pescada, distribuídas em bom andamento pelo Nordeste; o chicharro de escabeche, a sardinha de barrica caíram em desuso. Antigamente, contam os idosos, eram um luxo: uma sardinha bem partida, repartida, dava para uma família.
Matabichava-se côdea de broa com bacalhau de lasca, ou azeitona preta, quartilho de tinto ou aguardente de medronho.
A revalorização do vinho, as mesadas dos emigrantes na Europa e dos soldados em África, as reformas da Previdência (dadas pelo «senhor professor Marcello Caetano, um santo»), as jornas das barragens em construção, Pocinho, Bagaúste, Tua, Valeira, proporcionaram melhorias nunca sonhadas.
Os retornados das ex-colónias, quando desabaram, abriram novos comércios, aviários, cafés, minimercados, arrotearam cabeços e plantações, os braços deixaram de chegar para tanta escava, poda, sulfatagem, desfolha, vindima.
Em mais parte nenhuma do mundo existem outros assim, socalcos, vinho, rio. Poetas cumpliciaram-nos, imortalizaram-nos. São «a única evidência incomensurável com que podemos assombrar o mundo», escreve Miguel Torga; são «Os Lusíadas sem Camões», exclama Jaime Cortesão; trata-se da «mais vasta e imponente obra humana realizada em território português», acrescenta Orlando Ribeiro.
A demarcação do Douro como região de vinhos finos (a mais antiga do mundo) foi feita pelo Marquês de Pombal em 1757. Antes, porém, já os romanos a destacavam (século 11 a. C.) como uma referência da distante Lusitânia.
Os cruzados de Ricardo Coração de Leão tornaram-nos internacionalmente conhecidos quando, a caminho da Terra Santa, aportaram em Portugal.
A UNESCO incluiu em 2001 a região na lista dos locais que, pela sua «paisagem cultural», são Património da Humanidade.
Há duas versões para a origem do nome Douro. Uma diz que «nas encostas escarpadas, um rio banhava as margens secas e inóspitas. Nele rolavam, noutros tempos, brilhantes pedrinhas que se descobriu serem de ouro». Outra versão diz que o «nome do rio deriva do latim duris, ou seja, “duro”, atestando bem a dureza dos seus contornos tortuosos».
As barragens tomaram a navegação no rio - percurso de duzentos e dez quilómetros entre o Porto e Barca d'Alva, na chamada Rota do Vinho do Porto - verdadeiramente deslumbrante.
Riquíssimo, o imaginário local transformou-se, sedimentou-se num símbolo angular da cultura portuguesa. É, aliás, nesta zona que resistem (como na do Alentejo, como na dos Açores) as fontes mais genuínas da seiva que nos gerou. E a que os seus criadores dão memória pausada, pousada, sem a qual não existe continuidade, isto é, futuro.
Torga lembrava, a propósito, que para os seus conterrâneos «as ocupações em excesso provocavam o endurecimento do coração», aviso que a natureza cedo lhes inculcou.
Igualmente cedo eles sentiram que só amando a solidão das suas agruras conseguiriam não estar sós, o que lograram como mais nenhuma outra comunidade entre nós.
Sobre a terra, em nome da terra, os durienses parecem mover-se parados, ungidos de gestos sacerdotais. O silêncio das escarpas fez-se o silêncio dos que as comungam, denso de mutismos, de dores, de mistérios.
Não apetece, nelas, contar o tempo. Fazê-lo é quebrar a harmonia, a dormência que tudo vela.
Como em cenário mágico, montes, vales, nuvens, árvores, aves, caminhos, clareiras, sons, odores, tudo se aquieta/inquieta em molduras de inigualável transparência e secura.
Excessiva, a paisagem não sorri. Entra-se-lhe sem resguardo. A terra crua e densa, o ar imóvel e acre, os declives fendidos e ressequidos ofertam-se e esquivam-se em reflexos indistintos.
Sob o sol, em Agosto, o ar ficava sem ar, sem vibração. Mulheres punham sardinhas a assar, com um pouco de unto, nos carris do comboio e nas lousas das fragas.
Ao cair da tarde a aldeia despertava. Primeiro os cães e os gatos, a seguir as cabras e os jumentos. Levantavam a cabeça, levantavam-se. Atrás deles surgiam as crianças e os homens. O fim do terço trazia as mulheres.
A Lua Cheia despontava com todos, animais, crianças, homens, mulheres, no rio. O coaxar das rãs e o coro das cigarras faziam-se sinfonia cósmica. Jovens cantavam e dançavam sobre a grama. Pescavam-se enguias, rolos de minhocas a fazerem de isco, às centenas. Comiam-se uvas brancas e figos frescos com pão. Às três da madrugada, a água, a vinte e dois graus, mergulhava-se nela devagar, parecia caldo.
O rio mudou, porém. As represas regulam-lhe agora os caudais e as fúrias. Em certas zonas não parece o mesmo: lembra, superfície de vidro, um lago com barcos de recreio e desportistas de fora. Os calhaus, os redemoinhos, as cachoeiras, a violência desapareceram. O velho Douro, agreste e rebelde, pacificou-se, foi pacificado.
A filoxera, praga que na segunda metade do século XIX destruiu as vinhas da zona, logo se propagando a todo o país, levou à desertificação de milhares de hectares de terrenos (os mortórios) e ao abandono de inúmeras aldeias,
muitas ainda hoje desertas. Foi preciso arrancar milhões de pés de videiras e substituí-los por plantas enxertadas de «americano», resistente à filoxera.
Das noites de lagar, do azeite no Inverno, da pisa nas vindimas ficaram-me recordações inesquecíveis - as seiras a serem prensadas, as rodas de pedra tiradas por juntas de bois, mais tarde por motores a gasoil, o vapor forte das fornalhas, os homens de calças arregaçadas, as músicas, os harmónios, os petiscos.
A aldeia fazia-se altar pagão. Mulheres traziam galinhas cozidas, licores finos, figos secos, bolas (de sardinha, presunto, bacalhau) quentes.
De outras povoações chegava o estalejar de foguetes, os pirotécnicos de Viana punham o céu - na Senhora do Socorro, na Senhora dos Remédios — a explodir em flores, em cascatas de arco-íris; letras de luz faziam, no final, abrir a boca de espanto a todos os romeiros.
Fui a muitas dessas festas, festas de colheitas, de iniciação, de magia; saltava para os carrinhos eléctricos, vinte e cinco tostões uma volta, sentava-me ao volante, carregava no pedal, o pequeno veículo girava, girava, faíscas soltavam-se como se a pista fosse também um fogo-de-artifício e o carro uma estrelinha a voar sobre a romaria, rio acima, sobre a Quinta dos Frades, sobre a ponte do Pinhão, gradeamento minucioso, arcos finos, bem trabalhados, sobre o Cachão da Valeira, nó de precipícios e fragas onde centenas de pessoas e barcos, rabelos, de pesca, de passagem, se desfizeram.
Ao chegarem perto, os marinheiros, hirtos, gelados, encomendavam-se a São Salvador do Mundo. O Barão pereceu nele. Inglês de suíças ruivas, milionário e pintor, pintor de uvas e aguarelas, James Forrester fez-se figura lendária no Norte.
Os seus cinturões de oiro, as suas amantes de exibição, os seus criados de libré, o seu barco-palácio errante, as suas ceias no convés, rio acima, as suas sinfonias e gargalhadas ecoando nas margens deram-lhe dimensões de mito. A nave de luxo e luxúria em que se deslocava tornou-se uma visão fantasmática.
Numa noite de Lua Nova, asseverava Maria Bolota, dada a visões de Nossas Senhoras e de extraterrestres, o seu casco levantou voo com o fantasma do inglês.
- Antónia Ferreirinha (outra figura de referência no Douro), que o acompanhava aquando do acidente, flutuou na corrente — as saias compridas, usava várias, apanharam ar, enfunando-se — e salvou-se.
Conheci razoavelmente os grandes livros sobre a região. Tive a sorte de nascer em casa com biblioteca, habituei-me cedo ao Aquilino, ao Eça, ao Camilo, ao Pascoaes, ao Brandão, ao Redol, ao Araújo Correia, ao Fausto Guedes Teixeira, ao Manuel Mendes, ao Torga, à Agustina.
Na subida do rio, quando não havia vento, os barcos rabelos eram puxados, a partir das margens, por juntas de bois, contra a corrente, num esforço hercúleo.
Toda a existência no Douro é cheia, aliás, de asperezas, de aflições: as da vareja, dedos gretados de frieiras e golpes; as da escava, terra insensível às sacholas e ao desespero; as das vindimas, cestos subidos a dor e a vertigem.
Morrer afogado é uma dormência no Douro.
O Douro tem muita experiência em acompanhar o passamento dos que se lhe entregam. Sabe encurtar-lhes a aflição, esvair-lhes o medo, dulcificar-lhes o desconhecido. É o rio da Europa com mais suicidados.
A sua água fez-se pele de volúpias; a sua ondulação, veia de apaziguamentos. O corpo sobe e desce devagar como se fios invisíveis o puxassem, ora para cima ora para baixo, a vida a deslizar para trás, a infância, os rostos amados, a casa, o berço, a distância, o esquecimento, a revelação.
Comigo ia sendo, uma tarde, assim. Saí da escola, fazia calor, corri com os outros pela rua, passámos a estrada, entrámos na água. Havia pé na zona da Grande Fraga, nadámos. De súbito um redemoinho arrastou-me, os outros agarraram-se às pedras, vi-os durante algum tempo, depois percebi que estava longe, num cenário de peixes e plantas, as cores diluíam-se, tornavam-se mais transparentes e amenas.
Via-me a mim mesmo em baixo, como quando me debruçava do comboio sobre a imagem reflectida no rio, via-me a mim mesmo mas já não era eu, era o que havia de ser.
A sensação de afastamento extasiava-me. Divisei, então, grupos de pessoas à minha procura, bombeiros, GNR, pescadores, ouvia chorar, o dobre dos sinos prendeu-me a atenção. Em fila, a aldeia subia a estrada do cemitério, o padre Avelino de breviário aberto, o Ti Simão e os ajudantes de opas vermelhas e crucifixos, o caixão branco seguro pelos alunos da escola, os meus pais e irmãos de preto, a vista esplendorosa sobre São Leonardo.
O Douro acolhe bem todos os grandes desiludidos - arruinados de saúde, de jogo, de bens, de ciúmes, possuídos de espíritos malignos, de paixões impossíveis acabam por se lhe entregar.
Alguns atam sacos de pedras à cintura, saltam pontes, paredões, pela calada da noite deixam-se cair. Durante dias os seus cadáveres não são enxergados, submersos nos Iodos, presos nas fragas. Há muitos versos sobre eles, os afogados do Douro, histórias trágico-fluviais de delírio e grandeza.
Os padres recusavam-lhes acompanhamento, mas pouco importava, iam na mesma, em ataúdes, em choros, em pazadas de terra, terra mais pesada do que a água.
Ultimamente deu-me para ter saudades dos pequenos gostos, gostos de comida, de lazer, de aventura, de convívio, de intimidades, das fritadas de enguias em Agosto, sertãs delas, das fatias de broa demolhadas no azeite novo, dos cachos de moscatel a pintar, dos pires de aletria, do cabrito no forno, das compotas de pêssego, das regueifas trazidas de Amarante; guloso me revelara em pitéus, em doces, em festas, em lábios de adolescentes.
Os bailaricos de domingo no Largo do Cruzeiro, o deslizar no rio com o Ti Tomás barqueiro, as idas às romarias, bancos corridos postos nas camionetas do peixe, as récitas ensaiadas pelo Ti Simão, jeito assim para a quadra e o chiste não se repetiu no distrito, as deambulações pelo pudor, pelo amor.
Tudo isso me foi proporcionado no tempo em que vivi no Casarão, entre castiçais de vidro e túlipas de gaze, virado a norte para o rio.
Foi o povo que o crismou de Casarão, edifício de decadência mais pressentida do que visível, paredes de alvenaria, portas de carvalho, tectos pintados, ar imponente. Mão de bom gosto andou na sua construção, salões amplos, quartos aconchegados, cozinhas abertas, lareiras fundas, janelas de portadas, pátios de protecção.
Parecia um navio abandonado num quelho, Ilha do Lagarto lhe chamavam, à espera de maré que lhe desse flutuação.
Tinha má fama por maus costumes dos moradores, bebedeiras, zaragatas, o quelho; por assombrações e almas penadas, o Casarão.
Nas noites de Inverno ouviam-se o ranger de madeiras, o arrastar de correntes, detectavam se luzes sobre as chaminés. Numa madrugada acordei com os sinos a rebate, a Ti Lêndea, beata que vinha de assistir a um moribundo, vira «fantasmas a fazer poucas-vergonhas no telhado». Desvairada, correu à igreja, agarrou a corda do sino e foi preciso atirarem-lhe com um copo de água à cara para se deter.
Nos anos que vivi nele não percebi nunca vultos estranhos, nem ranger de madeiras, nem arrastar de correntes. A ninguém da família ouvi temores por isso, nem por memórias de crimes secretos que, afiançava-se, haviam sido cometidos no tempo do senhor D. Carlos.
Na região há muitos casarões assim. Não chegam a ser palácios, solares sequer. Construídos por brasileiros ricos ou fidalgos bastardos, foram-se degradando lentamente, adegas, capelas, pinturas, mirantes, soçobram num Douro a perder aristocracia, a transformar-se em roteiro de comércios sem grandeza nem orgulho.
As modernas tecnologias sobem agora as escarpas do Alto Douro. É bem possível que os montes voltem a vivificar-se, as terras são xistosas e magníficas, aveludados os seus néctares, acre a sua exaustão — a espuma substituindo o húmus, no rio, no vinho, nos afectos, nas viagens.
De outrora, lá continua o comboio cansado e típico, e sujo, o carvão substituído pelo gasoil, sem fumo, sem orgulho, menorizado pela concorrência dos motores fora de borda, dos paquetes hotéis de luxo, do cosmopolitismo dos turistas. De vez em quando uma composição histórica vinga-o, com a estridência do seu exotismo e a tonalidade da sua melancolia.
A pequena aeronave diminui o andamento e, ágil, volteia em círculos até se alinhar à pista do minúsculo aeródromo da minúscula ilha - a nona e última, e mais pequena, e mais personalizada dos Açores.
Para trás ficam-me coloridas digressões pelo arquipélago, com inesquecíveis recortes em São Miguel, abertos pela cumplicidade de Natália Correia, nascida na Fajã de Baixo, Ponta Delgada, anfitriã ciosa e sumptuosa.
Na pista, os habitantes da terra esperam em peso, alinhados e silenciosos. A sua frente, um jovem sacerdote, batina e cabeção, sobressai isolado. Está a ser expulso por eles, que o não querem mais entre si.
Era, aliás, o terceiro padre a ver-se corrido dali. Sem sensibilidade pela vida, pelos comportamentos, liberdades, tradições, transgressões da ilha, os religiosos em questão entraram, ao querer impor uma «moralização» de costumes, em ruptura com ela.
A Igreja pareceu esquecer-se que aquela era a única zona da região onde não tinha peso, por ser a única sem ameaças de vulcões nem de terramotos, sem terrores religiosos por via deles, sem servilismos a poderes terrenos e espirituais.
O situar-se numa placa geológica diferente da do resto do arquipélago, livrou-a dessa sujeição.
Se a felicidade fosse possível no mundo, o Corvo seria um lugar dela. É um dos sítios mais aconchegantes da Terra. Não se encontra em mais parte alguma um comunitarismo assim, uma afectividade, uma dignidade, uma delicadeza, uma sabedoria assim.
Chega-se-lhe por ondulações. Atravessa-se, ao aproximar, uma zona de protecção, na água e no ar, invisível, densa. Com rigidez, o barco e o avião vencem as vagas hostis (do oceano e do vento) que se abatem, enrolam sobre eles.
Aportar-lhe exige provação. Exige a passagem de um Letes indetectável (o fosso do esquecimento) que o separa, o purifica do mundo poluído e enfermo do exterior.
Desembarca-se nele com um sobressalto de renascimento. A terra, castanha e densa, o vento, quente e perfumado, os olhares, fugidios e prazenteiros, as casas, chãs e polidas, as encostas, pendulares e pedregosas ofertam-se e esquivam-se em flutuações irrecusáveis.
Deixa-se a aerogare e o cais e entra-se na povoação da ilha - a única. As canadas estreitam-se, os odores adensam-se. A vila abre-se despojada, subtil, aquosa.
As pessoas percorrem-na deslizantes, as conversas ecoam-na elípticas, palavras, sorrisos, exclamações, silêncios, convergindo sem fracturas, sem desníveis.
Os animais - depois das vacas predominam os cães, os gatos, as galinhas, os suínos e os cavalos - retêm a mesma cadência de movimentos, de olhares.
Adormeço nessa noite com As Ilhas Desconhecidas à cabeceira; desperto, no dia seguinte, com o universo de Raul Brandão resplandecentemente substituído pelo da Morgadinha de Júlio Dinis.
A luz, perfumada e macia, envolve-me sem agressividade. Não é terra de sol, esta; a sua claridade é de outro tipo, de alva, de cosmos.
«Temos de recuperar o seu sofrimento [dos ilhéus] porque eles estão mais próximos do oculto», exortava Natália. Feitos por eles, sabedoria e mistério, os Açores são hoje, repetia a autora de Armistício, o «último reduto da grande cultura portuguesa».
Esta é a terra dos anciãos e das crianças. E do Espírito Santo, o culto da partilha, o culto que fez Portugal diferente e que, há séculos, resiste com os seus impérios, as suas festividades, as suas subversões às investidas do monoteísmo e do economicismo.
«Ele ilumina-nos porque a sabedoria representa um dos sete dons do Espírito de Deus», anota João Vieira, director do Museu das Flores.
Esta é a terra das pessoas. Não é pela beleza paisagística (discreta) ou pelo património arquitectónico (irrelevante) que se destaca. É pela estrutura da sua sociedade, pelas relações dos seus habitantes, pela solidariedade do seu comunitarismo que ela se projecta, se destaca no mundo actual.
Ao tornar-se o produto mais escasso, o ser humano tornou-se o mais valioso. Não se encontram aqui milionários, não se vêem indigentes, não há gente a pedir, não se praticam gorjetas, não se detectam fossos de desigualdades.
«As pessoas comem bem. E bebem. Sem problemas graves de alcoolismo, cirrose ou droga», pormenoriza o médico, Dr. João Cardigos, vindo de família abastada do continente: «Aliás, as pessoas cuidam bem de si. Tomam banho à tarde, quando vêm dos campos, mudam de roupa, algumas até de relógio. Cerca de 80 por cento possuem conta no banco. Todas as habitações, há 120 fogos habitados, têm casa de banho, luz eléctrica, gás, televisão, arca frigorífica.»
Não se encontram edifícios fora da vila. Apenas casebres, escassos, para guarda de alfaias e produtos, se deparam na subida da serra.
Em excesso, a pedra foi empilhada por muros que esquadriam toda a paisagem, a pontuam de voltas e rendilhados por vezes labirínticos. Foi a maneira, o construí-los, de ordenar, arrumar as enxurradas de basalto solto pelas crateras.
Dedo de beirão andou na ilha. A pocilga rente à cozinha, a urdidura das hortas, o manejo do pão e do queijo, o apuro das roupas e das comidas (divinas as couves fritas com linguiça!) têm a sua marca. O seu cheiro.
Quando o fogo arrefeceu, a ilha fez-se um lugar de esfinge. Os que a descobriram julgaram na, na névoa da distância, uma ave negra a dormir. Chamaram-lhe, pela semelhança, Corvo. E acreditaram-na, pelo desejo, Corvo.
Com os séculos, a água encheu a cratera, os musgos tomaram as ravinas, o vento arredondou as encostas. Uma calma muito grande desceu depois. Hoje apenas se ouvem gritos de pássaros e espantos de visitantes.
Símbolo do conhecimento e do mistério, o Corvo tornou-se fábula - fábula de sabedoria, justiça, fartura, felicidade.
Açor em hebraico (açar) significa «dez». Dez é o número, segundo os iniciados, de ilhas do arquipélago - daí o nome que, ao detectarem-no, os superiores da Ordem lhe puseram.
O imaginário de alguns permitiu-lhes antever uma nova e oculta ilha, a décima, a por achar. Uma ilha para onde, dizem, o Cavaleiro da Estátua de Pedra aponta, ilha de poetas e amantes, de crianças e anciãos, reino do Santo Espírito onde D. Sebastião, tomada a nau real em Arzila, se refugiou — e onde continua em segredo.
No seu brasão, o Corvo sinaliza «o pássaro das alturas a encontrar-se com o peixe das profundidades» e a segurá-lo no bico para sempre.
«Ulisses andou na zona», desvenda Álvaro Dentinho, «o seu escudo era o roteiro da ilha.»
Ao mergulhar no oceano em ocasos de lentíssima emoção, o sol solta-lhe o oculto. Figuras de assombramento emergem, duendes, piratas, corsários, mouros, pastores, dragões evolam se no ar entre silêncios e delírios de distâncias. A ficção apetece infinitamente mais do que o real. Tudo se faz reino dela, cúmplice dela.
Várias lendas, por igual convincentes, explicam as lagoas, as crateras, os tempos fossilizados, as ervas movediças, as rochas abruptas, os abismos milenários, as erupções dantescas que, antes da chegada do ser humano, mudaram a esquadria do Atlântico.
Ilha do Corvo, Ilha dos Corvos Marinhos, Ilha do Marco, Ilha da Estátua, Ilha do Farol, Ilha de S. Tomás se foi tornando conhecida pelos que, pelo Ocidente, buscavam o Oriente, buscavam o Continente Venturoso.
Relatos muito antigos dizem que cadáveres estranhos, pele amarela, corpos esguios, davam por vezes às rochas da zona trazidos pela rebentação do poente.
Cem anos antes de os portugueses chegarem aos Açores, «documentos cartográficos assinalavam já», lembra Ferreira de Serpa, «a existência do Corvo». Corvo que se fez, desde então, porta para o desconhecido, passagem para o outro lado do Oceano - que os iberos iriam franquear.
«Os mareantes chamam-lhe Ilha do Marco porque com ela (por ter serra alta) se demarcam quando vêm demandar qualquer das outras. No cume da parte noroeste achou-se uma estátua de pedra posta sobre uma laje, que era um homem em cima de um cavalo, em osso, e o homem vestido de uma capa, sem barrete, dedo apontando contra o ocaso», pormenoriza Damião de Góis.
A estátua foi, segundo o cronista, destruída quando tentavam, por ordem de D. Manuel, transportá-la para Lisboa.
Gaspar Frutuoso e o abade de Castro confirmam-lhe a narrativa. Historiadores modernos negam, porém, a sua veracidade, afirmando que a descrição se destinava a esvaziar a importância da descoberta da América por Colombo.
Vencida a primeira fase de povoamento, em que foram largados animais de pastoreio, e depois de cinco tentativas de fixação de colonos, a ilha começou a ser arroteada pelo homem.
Fogos gigantescos, ateados durante semanas, limparam-lhe os matagais; o arranque de madeiras (pau-branco, cedro, teixo), para exportação e construção, flanqueou-lhe os bosques; o pastoreio maciço (ovinos, caprinos, bovinos) alterou-lhe, desequilibrou-lhe a vegetação.
Especialistas apontam, agora, para a urgência de reflorestação, de ressementeiras, de replantações. O combate à erosão e aos ventos (em cinco anos pode dar-se a desertificação dos solos, a perda das turfeiras e o assoreamento das lagoas) é uma prioridade.
Na zona passaram, mais tarde, a convergir as grandes carreiras intercontinentais das índias, das Áfricas, das Américas, antes de aportarem à Europa. O ouro, as especiarias, os escravos, os diamantes, e a cobiça por eles, concentraram-se, como consequência, à sua volta.
Corsários poderosos afluíram de Marrocos, da Turquia, de França, da Inglaterra, da Holanda. Sem guarnições militares eficazes, o Corvo tornou-se apetecido por todos. Tentado por todos. Que o julgaram presa passiva e fácil.
Nos séculos XVI e XVII a zona sofre investidas terríveis de norte-africanos que, como era seu hábito, pretendem raptar-lhe a população. Nas alturas dos ataques, os rapazes e as raparigas escondiam-se entre os musgos do Caldeirão, musgos que, com mais de dois mil anos, formam plataformas semelhantes a areais movediços.
Resguardados na parte alta da montanha, pejada de calhaus rolantes, os corvinos resistiram sempre com grande coragem e eficácia aos invasores.
A maior parte dos piratas preferiram, no entanto, a atacá-los, convivenciá-los, estabelecendo com eles relações de comércio e cordialidade. Aguadas, fornecimento de víveres, tratamento de feridos e enfermos, conserto de embarcações e roupas tornaram-se, a troco de dinheiro, presentes e protecção comum.
Essa duplicidade (o rei ordenara combate sem quartel aos corsários) criou má fama aos ilhéus. Esmagados pelos impostos e pelas soberbas dos senhores de Lisboa e Ponta Delgada, os corvinos cedo perceberam que não podiam contar com o poder central para sobreviver. Poder central que só lhes enviava, quando o conseguia, cobradores de taxas e arregimentadores de mancebos.
A passagem dos veleiros e as ajudas dos piratas fizeram-se-lhes, assim, reconfortantes. Deles, e dos barcos que, de noite, se despedaçavam nas rochas (há quem diga que eram ateadas fogueiras nos pontos altos para os atrair), aproveitaram-se com discrição, com ambiguidade e proveito durante gerações.
O fim das guerras napoleónicas e o domínio dos mares pelos ingleses alteraram depois a ordem dominante - e empobreceram gravemente a vida da liliputiana comunidade.
Desesperados com as rendas a pagar aos senhorios (quarenta moios de trigo e 80 mil réis em dinheiro, ano de 1832), «os corvinos choravam lágrimas de sangue».
Foi quando, no relato de Ferreira de Serpa, «chegou o senhor D. Pedro IV aos Açores. Representou um raio de luz. Emissários foram enviados ao Imperador a suplicar a extinção do tributo. Arrostando com o mar e a distância, lá partiu um honrado ancião de grande respeito, de nome Manuel Thomaz de Avellar. Em 13 de Maio de 1832 é admitido à presença do Duque de Bragança. Grave e sério, sentido nas palavras e no rosto, trajando à moda da sua terra, de grosseiro burel, encosta-se ao cajado e, cheio de respeitosa dignidade, expõe ao Regente o seu pedido. Sacando da algibeira do gibão um pedaço de pão de junça, mostra-o, acrescentando: “É tanta a nossa míngua, meu senhor, que deste mesmo poucos o têm à farta.” Alma nobre, D. Pedro pediu ao seu ministro Mouzinho da Silveira que se encarregasse de fazer justiça, extinguindo o pesado foro».
Agradecidos, os habitantes da ilha organizam uma expedição de barco e vão, em grupo, à Terceira agradecer a dádiva concedida. Todos os anos pelo Natal passam a enviar um presente simbólico a Mouzinho. Profundamente sensibilizado, este pedirá em testamento que o seu corpo seja enterrado no Corvo: «Gosto da ideia de estar cercado, quando morto, de gente que na minha vida se atreveu a ser agradecida.»
Não foi possível, porém, satisfazer-lhe o pretendido. Os seus restos mortais encontram-se sepultados na freguesia da Margem, no Gavião, de onde era natural.
Os jovens não querem, de uma maneira geral, partir, e os que partiram estão a voltar. A vida é cheia de pequenos rituais, rituais diversificados, saboreados, de trabalho, de lazer, de convívio, de culto, de evasão, de afecto, de ludíbrio.
«É complicado zangarmo-nos uns com os outros. Não dá jeito cortar relações com uma pessoa que se encontra várias vezes ao dia, no café, na rua, nos grupos de amigos. É incómodo. É preferível não o fazer, não compensa. Há entre nós, aliás, um costume antigo que se chama “fazer o perdão”. As famílias dos que se zangam encontram-se, discutem e concertam em conjunto as coisas. O que acordam não pode ser recusado», revela-nos Hélio Pombo, ex-deputado do PS. Além dele, havia outro representante da ilha (pelo PSD) na Assembleia Regional.
A política partidária encontra localmente pouca expressão. Apenas o PSD, o PS e o PCP (cerca de um por cento) conhecem implantações.
Os sociais-democratas e os socialistas alternam-se com discrição. João Cardigos revolucionou, a partir da Câmara, a região. Impulsionou-a ao exterior, informatizou os serviços públicos, disponibilizou créditos para construção de casas de banho, cozinhas, luz, promoveu lazeres, culturas, desportos, viagens, cursos de formação, lançou uma rede de radiotelefone, fundou os bombeiros, alargou os serviços de comunicação e de saúde.
Um avião da Força Aérea encontra-se permanentemente de prevenção na Terceira para transportes de emergência. Em todos os voos comerciais há dois lugares reservados a doentes graves.
O 25 de Abril teve repercussões desniveladas na ilha. Os dinamizadores culturais trouxeram-lhe palavras, energias, projectos, promessas estonteantes. Os costumes oscilaram. Os poderes centrais olharam pela primeira vez com frontalidade para o território. Obras de fundo, as do Porto da Casa e as do aeródromo, arrancaram.
Um navio especial atracou em Junho de 1977. Era de guerra mas trazia Caterpillars. As terraplanagens para a pista (840 metros) iniciaram-se. Seis anos depois, Ramalho Eanes, Presidente da República, inaugurou-a. O receio dos ventos ciclónicos que isolavam a zona durante meses via-se, como um Cabo das Tormentas, esvaziado.
As comunicações com o exterior passaram a depender mais dos preços dos bilhetes de avião (bastante caros) do que do estado da meteorologia.
«Lembro-me de o Carvalho Araújo fazer a ligação uma vez por mês. Levava dois dias e meio para ir do Corvo à Terceira. Antes, nos anos 40, só havia navio de três em três meses. Se o mar estava bravo, o barco seguia sem se deter. Tudo, todos, ficavam então em terra. E o povo chalaceava: “Hoje aqui, amanhã no Corvo.” Quando havia bom tempo as pessoas vestiam-se bem e iam ver quem chegava. Era dia de festa, o Dia de S. Vapor», evoca-nos João Saramago, autor do livro Le parler de l’ île de Corvo.
Hoje as deslocações centram-se no aeródromo, às terças e quintas-feiras, ao fim da manhã. O aviãozinho aparece, faz-se à pista, enfrenta o vento, aterra, os passageiros saem, sorriem, e duas horas depois tudo se repete - ao contrário.
Os que esperam a lancha fazem-no por encomendas, por requisições, por caixas, por pacotes, por cestas, por objectos, volumes que mestre Zé Augusto tira do porão e um guindaste, manejado com destreza, coloca em carrinhas.
Há cinquenta e cinco anos que faz aquele serviço. «As tempestades aqui são medonhas, muito piores que as do Canal entre a Horta e o Pico», relata-nos. «As pessoas sofriam muito antes do avião. E eu com elas, com o vê-las aos gritos, a enjoar, a adoecer. Agora há menos gente para transportar e mais carga. Prefiro transportar carga.
Essa não se põe aos berros, não complica. Os animais é que são pior. As vacas, então, ficam em pânico. Mas nunca perdi nenhuma. Só uma vez um cão que eu tinha, um lindo pastor-alemão, foi levado por uma vaga. Coitadito, nunca mais o vi!»
O gasóleo, a gasolina, o gás de cozinha são os produtos mais desejados. Vêm em contentores e garrafas, seguindo para um armazém onde Luís Carlos os prepara para a revenda.
O serviço da bomba de combustível (a única) pertence-lhe. É um jovem silencioso que trabalha com bonomia, com gentileza. Os veículos entram no recinto, o jipe do médico e a Scooter da professora são dos primeiros a chegar, ele atesta-os, limpa-os sem enfado. Depois vêm os tractores, as motorizadas, as carrinhas, rebanho mecânico imobilizado pela tarde dentro, sob os gestos espaçados, precisos, do rapazinho de sorriso imperturbável.
À cultura do pastel (corante), praticada até ao século XIX, sucedeu-se a do gado. A sua exportação tornou-se a principal fonte de rendimento da ilha. Todos os anos pelo Verão centenas de cabeças saem em barcos para as Flores, de onde partem para abate no continente.
É um dos rituais mais complexos da comunidade, a lembrar as boiadas dos westerns cinematográficos. Neblinas de cheiros envolvem as ruas atravessadas pela cavalgada acre, ondulante, a caminho do mar.
O cais, as embarcações, as ondas, os gritos, o suor, o ardor, a violência, as reses a resistirem, a recuarem de medo, o subterfúgio nos embarques, a saudade nos olhares («vimo-las nascer e crescer, ganhámos-lhes afeição») fazem-se imagens de fantasia e pó.
Os urros dos animais ficam, na distância das embarcações que os levam para a morte, a ecoar durante muito tempo como trombetas de um juízo final por vencer.
«Na primeira noite tive medo. Agora durmo de um sono num colchão de palha milha, com a janela escancarada, por onde entra o jorro que sabe a mar e a que se mistura o cheiro bravo do monte», escreve Raul Brandão.
O escritor esteve no Corvo com a mulher em 1942, durante uma viagem pelos Açores e Madeira. «Estes homens têm fisionomias de painéis. (...) Olham-me nos olhos e falam com desassombro. Nenhuma hipocrisia. (...) A paisagem não sorri nem as raparigas cantam. (...) Mortos e vivos formam um corpo. (...) Aqui só há uma coisa a fazer: não é olhar para fora, é olhar para as almas.»
Diz-se que as sepulturas são, na ilha, mais fundas do que o normal; que elas se vão, com o tempo, abrindo por baixo, para baixo; que os caixões se inclinam e deslizam, atraídos, desejados pelos vácuos subterrâneos; e que ao encontrarem o mar mergulham nele, libertam se nele.
Do oceano passam, através de fendas ilocalizáveis, para o centro da Terra, que é oca, que é o céu que temos por cima de nós: o céu que habita o olhar dos corvinos.
Metade humanos (no visível), metade deuses (no oculto), eles «conservam os reflexos da alma grega das grandes épocas heróicas», captou-lhes Virgínia de Castro e Almeida.
O trabalho, o lazer, o convívio são profundamente ritualizados. Há uma cumplicidade geral para que ninguém produza, desperdice demasiado. A sabedoria própria do Corvo levou há muito a população a autocontrolar-se, a auto-regular-se de acordo com os seus recursos, os seus equilíbrios.
Em nove décadas, passou de 808 (ano de 1900) para 380 seres (ano de 1994). Diz-se com humor que, no passado, ao atingir as 999 almas e ao esperar o nascimento de mais uma, a povoação abriu-se em festa. Dois dias antes do parto, porém, um dos idosos morreu. Nunca foi atingido o milhar.
A partir das guerras de África entrou em processo de decrescimento populacional - hoje alterado. Para escamotear, então, os jovens à tropa, os pais registavam-nos ao nascer (glorioso expediente!) com nomes femininos — e não foram convocados. Daí a predominância de rapazes com nome Maria.
Um repórter francês chamou, então, ao Corvo «a ilha das raparigas». Os senhores da guerra nunca souberam, durante os treze anos que ela durou, do genial ludíbrio.
A vida dos homens no monte é a de mudar as reses (marcas feitas nas orelhas identificam nas) de pasto em pasto. A sua venda começou a dar dinheiro no princípio da década de 1960. O Governo chegou mesmo a pensar em transformar o Corvo numa zona de produção de carne para os exércitos coloniais. A «cultura da vaca» generalizou-se.
O fabrico de queijo expandiu-se. «Trinta litros de leite dão um queijo de perto de dois quilos», explica-me, debruçada sobre toalhas de algodão (antigamente de linho) onde repousa o coágulo, Maria de Fátima Mendonça.
O soro, que escorre para baldes de latão, vai para os porcos - os porcos do Corvo bebem melhor leite que os habitantes de Lisboa.
A obrigatoriedade de pasteurizar a manteiga matou, entretanto, a sua produção. As exportações (latas de cinco quilos, célebres na época) acabaram. A fábrica foi encerrada.
A criação de carneiros viu-se, por sua vez, abandonada. O Dia do Fio, ou festa da lã, cerimónia da tosquia das ovelhas realizada na última quinta-feira de Maio, festa de liberdade (as crianças podiam fazer o que quisessem, até fumar), de convívio, terminou abruptamente.
O artesanato (colchas, cobertores, boinas, bonés, tecidos a lã, chegaram a ter procura internacional) entra em declínio. Hoje apenas Inês Mendonça e Rosa Mendonça, mãe e filha, se lhe dedicam. Ágeis, criativas, são presença de destaque nas feiras e mostras que integram.
Poupada à massificação turística, ao urbanismo desregulado, à construção compacta, a ilha tem esquivado as ondas de consumismo e cupidez globalizadas.
As pessoas e os locais são tanto maiores quanto maiores quantidades de reminiscências acumularem, transportarem. O Corvo parece ter todos os tempos em si, idos e por vir, reais e imaginados, ocultos e cúmplices.
A biblioteca pública (10 mil volumes) é a que tem registado no país maiores índices de leitura. Segundo estatísticas da Gulbenkian, que a ofereceu ao município, colocou-se, em passado recente, entre as de maior movimento na União Europeia.
Tornou-se vulgar na ilha a compra de publicações por assinatura e por catálogo. A grande falha reside na ausência de jornais, sobretudo diários, devido à irregularidade dos correios.
Os idosos são verdadeiros devoradores de livros. «Quando tinha vista para eles lia tudo o que aparecia. Gostava muito de romances. Camilo era uma maravilha, lia-o várias vezes seguidas. A conversa que os livros têm com a gente é muito bonita!», exclama Maria Filomena Mendonça, de 92 anos, a pessoa mais velha da vila.
Funga rapé que tira sorrindo («Ora, a fábrica não trabalha só para mim!») de uma caixa metálica, antiga e brilhante como ela. «Agora os anos abateram-me. Apenas me resta rezar.»
«Os sacerdotes não se têm dado muito bem no Corvo», dir-me-á, em Ponta Delgada, o padre que vi partir quando cheguei. «Não tive condições psicológicas para enfrentar o meio. Torna-se um erro atirar com um jovem acabado de ordenar, como foi o meu caso, para um sítio assim.»
A religiosidade dos corvinos revelou-se, com efeito, sempre diferente da dos outros açorianos: mais solta, mais simples. Mais pagã. A ausência de raízes católicas profundas, e a existência de um fortíssimo culto pelo Espírito Santo, explica-a em grande parte.
Nossa Senhora dos Milagres, padroeira da vila - escultura flamenga do século XVI achada no mar -, disfruta, no entanto, de crença e festas (a 15 de Agosto) próprias.
Fez um milagre, afirma-se, extraordinário: quando piratas turcos bombardeavam a ilha em Junho de 1632 para sequestrarem a população, esta foi buscar a imagem à igreja e colocou-a na Canada da Rocha, virada para o invasor. A Santa abriu, então, as mãos, e as balas, batendo nelas, voltaram para trás, atingindo os que as disparavam. Que se puseram em fuga. O relato da maravilha logo se popularizou no reino.
Entre os mais velhos, a fé na Sagrada Família continua também viva. As caixas com a sua representação (três santuariozinhos de madeira preciosa) rodam, há cinquenta anos, de casa em casa, onde permanecem vinte e quatro horas e acolhem, entre lamparinas de azeite e velas de cera, orações de consagração.
O ritual do Santo Espírito tem, no Corvo, características próprias. Antes das festas, actualmente no segundo domingo de Julho, são sorteados sete nomes de sete habitantes em casa dos quais se expõe, por sete dias, a coroa do culto.
As portas das habitações seleccionadas ficam abertas, rezando-se nelas todos os dias o terço.
Elabora-se o rol da carne, fixam-se os quilos que cada um pretende e começam a receber-se os folares e as rosquilhas para serem leiloados.
O abate dos novilhos, seis a sete, é feito na Casinha Velha, nos baldios. As peças resultantes do esquartejamento vão para o Outeiro, sendo dependuradas em cavaletes especiais; depois da meia-noite são pesadas e divididas, e o padre, ou alguém por ele, benze-as. Numa festividade, a irmã Teresa Pimentel, freira do Sagrado Coração de Jesus do convento da Terceira, nascida no Corvo, oficiou, por falta de sacerdote, a função.
Iniciam-se o bazar, a quermesse, as rifas, os petiscos, as músicas, as danças, o arraial. A banda toca. A festa intensifica-se. E o banquete.
No Outeiro realizam-se as arrematações e procede-se à escolha dos mordomos (doze) para o ano seguinte.
Na década de 1960, por pressões do bispo, sofreram-se tentativas para «corrigir» os rituais menos convenientes. O povo opôs-se, porém, e durante seis anos a Igreja não foi admitida nas cerimónias do Espírito Santo.
Em posição oposta, São Miguel revela-se «a ilha onde o povo se tornou, por acção do vulcanismo, mais religioso, de uma religiosidade nebulosa e apavorada», anota o historiador Arruda Furtado.
O ritual do Espírito Santo reveste-se de sinais altamente subversores: o governo é entregue a uma criança (o Imperador), a comida partilhada gratuitamente e a liberdade expressa na saída de um preso durante as festividades — o que não se passa no Corvo, onde não há pessoas detidas.
Isso explica as perseguições que todos os poderes -politico, religioso, militar, económico — lhe moveram; isso explica a importância, a nível do imaginário, que lhe conferem os seguidores.
«O povo julga que o culto que presta ao Espírito Santo é tão bom e tão agradável a Deus como o que lhe é prestado com a mediação do sacerdote. Daqui provém o facto de se revoltar por vezes contra os párocos», observa Luís da Silva Ribeiro no livro Obras Várias.
A vida na ilha organizou-se desde muito cedo à margem dos poderes políticos, religiosos, militares, económicos, culturais, judiciais vigentes no país. Distante dos seus braços centralistas e repressores, o Corvo construiu uma fluidez de costumes e uma solidariedade de sentimentos invulgares entre nós.
Os dirigentes (só houve estruturas locais do poder político depois de 1832) e os sacerdotes (até meados do século XVII não existiam representantes religiosos) visitavam-no esporadicamente, bem como os procuradores dos donatários, idos para cobrar rendas e impostos.
Os costumes locais tornaram-se sempre mais fortes do que as normas nacionais. Os anciãos impuseram-se mentores da terra. Reunidos ao fim da tarde, todas as tardes, no Outeiro, decidem (hoje menos) os interesses, as necessidades, as carências, as reservas existentes. Fazem, faziam, a justiça, a moral, a educação, as partilhas, as renúncias.
As mulheres, silenciosas, serenas, aceitam os jogos, as regras de valorização dos homens: não se sentam no Outeiro, não sobem à montanha, não se metem na política - território deles; dominam os lares e os filhos, a planície e os baixios -território delas.
Os novos tempos, as novas gerações estão, no entanto, a diluir sem remorsos essas fronteiras. O convívio entre os jovens no Café do Xico, no Restaurante da Câmara, na boîte dos Bombeiros, na lanchonete do centro é, com efeito, já de outro tipo.
A legitimidade sobrepôs-se à legalidade. O relacionamento com os corsários, com os infiéis, foi durante muito tempo exemplo disso. Ainda hoje se observam as suas consequências. Continuam, por exemplo, a não existir forças controladoras do Estado.
Guia-se sem Carta de Condução nem cinto de segurança, nem capacete de protecção (há poucos automóveis, mas muitas carrinhas e motociclos). As regras da cortesia têm mais força do que as do código.
Não há muitos acidentes, não há participações judiciais, não há furtos, não há assassínios. Construída no passado, a cadeia foi durante muito tempo habitada por uma vaca. Hoje é um café. As portas dos veículos e das casas ficam encostadas, os objectos pessoais são deixados sem vigilância.
A abertura do aeródromo obrigou à existência de bombeiros e de extintor. Recrutados os primeiros, montado num jipe o segundo (o carro do lixo, igualmente montado num jipe, é o mais pequeno do mundo), a aerogare passou a receber uma vez por semana, no Verão duas, um rijo turbo-hélice da SATA com capacidade para dezanove pessoas - poucos souberam, no entanto, que o vistoso extintor esteve meio ano vazio (inútil) na pista, por falta de carga.
«A ilha é um exemplo de ilegalidade», ironiza-nos Carlos Farinha, advogado de Angra e consultor da Câmara do Corvo, onde vai regularmente. «O meu trabalho tem sido o de adaptar a lei à comunidade, tendo em conta os seus usos e costumes. O que temos conseguido com êxito. Consultamos a população sobre as questões que surgem e em conjunto resolvemo-las. Foi o que sucedeu com os baldios, já restituídos ao povo. Depois de vários anos de impasse, as divergências foram ultrapassadas e o regulamento aprovado por unanimidade.»
Tirados pelo Governo à população em 1970, que os utilizava gratuitamente, os baldios foram entregues, na sequência do que aconteceu no resto do país, aos Serviços Florestais. Que passaram a cobrar emolumentos pela sua serventia. Indignadas, as populações rebelaram-se e, em massa, expulsaram os guardas.
O 25 de Abril, que não conseguiu enquadrar o seu funcionamento, acarretou a degradação generalizada dos terrenos.
Na madrugada de um sábado assistimos à sua devolução. Os homens subiram à montanha e, em grupos ordenados, concentraram-se com os seus tractores, carrinhas, motocultivadoras no largo da Casinha Velha, para fixação de calendários e distribuição de tarefas.
Os que possuem menos de cinco cabeças de gado dão três dias de serviço por ano, os que possuem de cinco a dez, seis dias, os que possuem de dez a quinze, nove dias. Dias tirados ao descanso, nos fins-de-semana, para recuperação, assistência e vigilância da área.
Os baldios ocupam mais de metade da terra e alimentam mais de mil vacas. Nos meses de Novembro a Maio, os cavalos (cerca de sessenta) têm-lhe também acesso.
A população masculina participa em peso: lava bebedouros, ergue cercas, limpa valas, sinaliza perigos, divide perímetros, socorre animais. A Câmara dá o cimento e a areia necessários às obras.
É antiquíssima a tradição de tarefas comunitárias. Durante séculos, tudo o que era público (edifícios, caminhos, drenagens, reparações) estava entregue ao trabalho gratuito e escalonado dos cidadãos.
A meio da manhã pára-se para comer, pão e queijo quentes, perfumados, e fazer o ponto da situação.
«Gosto muito desta vida. Ganha-se bem e somos donos de nós próprios», conta-nos José Alves Mendes, vinte e nove anos. «Tenho uma carrinha, duas motas e uma conta bancária. Não preciso de mais. Podia ter um lugar na Câmara, mas para quê? Para ganhar mal? Só uma vaca dá mais do que um emprego desses. Se fosse funcionário apenas podia ter uma mota, não uma carrinha. Assim levo uma vida boa. A gente safa-se com o subsídio do leite e com os animais que se vendem para o continente. Podemos arrecadar à volta de três mil contos por ano. Gosto muito de estar aqui e de fazer o que faço. Desisti de uma namorada que queria que fosse para a América com ela. Partiu sozinha.»
Na ilha trabalha-se a terra como os ourives o ouro, com crescente qualidade e modernidade. Sinais disso encontram-se no interesse de muitos jovens pelas funções rurais.
Agricultura e turismo necessitam de ser conciliados de maneira a abrirem outras, novas perspectivas — a moderna residencial de Manuel Rita, ex-presidente da Câmara, vai, certeira, nesse sentido.
Matriarcas de onde brota a seiva das suas comunidades, as mulheres são aqui dominantes - pelo número, pela posição, pelo conhecimento, pelo engenho, pela prudência.
Governam os bens e as famílias, decidem as proles e as courelas, organizam os orçamentos e as festividades, assumem os lutos e os recolhimentos.
Na distância, uma voz ecoa: «Sapateia, sapateia/ Sapateia que já disse/ Enquanto solteira, alegre/ Depois de casada, triste.»
Porque gostam do silêncio, os corvinos amam a música; porque se habituaram à disponibilidade, eles procuram o convívio; porque sabem que viverão fundo, eles saboreiam o festim.
A ilha humaniza, aproxima as pessoas. Entre a realidade que lhes coube partilhar e a imaginação que lhes coube dilatar, elas vivem nas margens da suprema imprevisibilidade.
Uma terra leva tempo a conhecer. É preciso percorrê-la devagar, apanhar-lhe os tiques, forçar-lhe as sombras, os equívocos, as duplicidades nas esquinas, os adolescentes nos cafés, as fugas sem saídas.
No Corvo não se anda em romagem ao passado, anda-se pelo passado em direcção ao futuro, numa via láctea de fosforescências aconchegantes.
A luminosidade que lhe predomina é a da alva, a alva que decompõe, sobre ressonâncias de Haydn, sentimentos e musicalidades. A ficção apetece-lhe mais do que a realidade, tudo se faz reino dela, cúmplice dela. Tocata e fuga.
Atravessamos a ilha, pela última vez, de madrugada. Está Lua Cheia. Não são precisos os faróis para ver a estrada. Não há, coisa rara, névoa, nuvem sequer. A transparência é total. Defronte, as luzes das Flores tomam o estreito mais próximo, mais íntimo.
Jovens de motorizada cruzam a encosta do monte e os baixios da praia. O tempo dilata-se. O coro dos garajaus faz-se aragem quente, música de intimidades. O universo parece concentrar se na ilha, enchê-la de ecos, de reverberações, entrar nos corpos, deflagrá-los.
O Corvo tudo vigia, ouve, adivinha, partilha, silencia, oculta. É sábio. É cúmplice. É esquivo. É afagante. Viver nele exige ambiguidade. E lentidão.
O colectivo não lhe anula o individual, o estabelecido não lhe extirpa o diferente - quando discretos, quando detentores de álibis, há lugar para eles.
A ilha é uma câmara de murmúrios, uma sinfonia de andamentos pausados, pousados. Anda-se devagar nela. Fala-se, bebe-se, ama-se, transgride-se, desanima-se, sofre-se, sonha-se devagar nela. «Até os ratos, aqui, fogem devagar dos gatos», ironizam-nos.
Conservados do tempo das navegações, há nas casas muitos binóculos e óculos de alcance. Durante séculos foram «janelas» sobre o exterior, os veleiros na linha do horizonte, os paquetes nas carreiras oceânicas — imagens de mundos deslizantes, de estrelas cadentes na imobilidade da ilha.
Foram também, e continuam a ser, insinuam-nos, «frinchas» sobre a vida privada local, que a coscuvilhice, em terras áridas de acontecimentos, vira deglutição irreprimível.
Vacas bordejam o caminho que sobe a montanha dando à paisagem vislumbres de índia. Têm uma presença, também elas, ritualista, intermediárias que se fizeram entre os deuses, antes de se ocultarem na Natureza, e os humanos.
«O mar isola, é certo, mas nem por isso deixa de ser uma estrada. Não compartilhamos da distorção conceptual que transforma o corvino num ilhéu isolado sobre si próprio, marginal ao tempo e condenado a uma espécie de fatalidade social arcaizante. O isolamento não é necessariamente mau», escrevem os autores do notável Plano Director do Corvo, feito pelo Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores. «A insularidade tem o duplo significado de isolamento e de vida de relação. Se ser ilhéu fosse um destino tão agreste e indesejável como isso, dificilmente se compreenderia porque é que esta ilha se encontra habitada», acrescentam.
Ataques, saques, crises, mudanças de rotas de navegação, comprometimentos políticos abateram-se sobre a região, amputando-a mas não a destruindo. Renasceu sempre.
«A vida açoriana não data espiritualmente da colonização das ilhas: antes se projecta num passado telúrico. [Estamos] enraizados pelo habitat a uns montes de lava que soltam da própria entranha uma substância que nos penetra. (...) Temos uma dupla natureza: somos de carne e pedra. Os nossos ossos mergulham no mar», precisa Nemésio.
«A ilha é a mãe, é a fatalidade dos insulares. Mesmo os mais desgarrados, como aparentava ser Antero, escolhem-na como túmulo, ou seja, berço para reviver», sabe Natália Correia.
Lugar de passamento, apetece, depois de partir dele, regressar a ele. «Apetece morrer nele», murmura Raul Brandão.
«É um espaço que, utópico, arcádico, paradisíaco, ignora a fome, a peste, a guerra, a política» anota, em comentário à novela Cinco Dias na Ilha do Corvo, de Lacerda Bulcão, a professora e escritora Maria Leonor Carvalhão Buescu.
Ficar para sempre nela foi o que decidiu João Cardigos. Ancorado no Corvo, casou nele (a mulher é a enfermeira Goretti), teve uma filha, fez política, abriu e projectou a comunidade. Agora dedica-se, após o trabalho no Centro de Saúde, a iniciativas culturais e convivenciais - ea construir, com paixão, uma casa enigmática sobre o mar para, garante, morrer cedo e tranquilo.
«Há quatrocentos anos que estamos neste calhau. E queremos continuar nele porque o amamos», cicia Hélio Pombo. «Não vamos deixar que ele feneça. Temos de nos preparar para evitar as crises que hão-de surgir. Temos de evitar a dependência das exportações e dos subsídios, a nossa economia é equilibrada mas frágil. Precisamos de fazer com que a nossa gente evolua.»
A inexistência de especialistas é uma característica da zona onde todos fazem tudo, improvisam tudo. Partilham tudo. As mesmas pessoas que vemos de manhã nos campos na ordenha, vemo-las à tarde a trabalhar em computadores, a arranjar veículos, a reparar casas, e, à noite, a solfejar aplicadamente na banda.
O pescador é lavrador; o gasolineiro, vaqueiro; o deputado, gestor de baldios; o presidente da Câmara, carpinteiro; o médico, disco-jóquei; o hoteleiro, funcionário das Finanças. «Um homem que, aqui, só sabe um ofício, está morto», provoca Manuel Rita.
Crianças brincam, rindo alto, na rua. O professor Júlio, um jovem de Torres Novas há um ano naquela escola, ri-se entre elas. Estão no recreio. Falam de astros, de viagens espaciais, de astronautas.
Será o Corvo uma nave surgida, não das profundezas do oceano mas das profundezas do cosmos, e aqueles seres tagarelas e bonitos, as crianças e o professor, extraterrestres por revelar?
Sigo-os à distância. Em vez de subirem no espaço, descem, porém, uma rampa e, em poucos instantes, somem-se para lá da porta das aulas. Fico a ouvi-los em coro estrídulo: «A Terra é redonda... Portugal é rectangular... Os Açores têm nove ilhas...»
Os acordes de um violino saem pelas janelas abertas do salão, o primeiro andar do edifício dos Bombeiros, atravessam o largo da vila e perdem-se na montanha, a norte, e no mar, a sul. Sob o luar, Vivaldi faz-se, e Haendel, e Strauss, e Corelli, e La Follia, aragem de comoções.
O tempo, são onze horas de uma noite de Primavera, o espaço, estamos num ilhéu a meio do Atlântico, dilatam-se, arrastando o olhar, a respiração dos que se imobilizam à volta.
Crianças, 4, 5, 6, 7 anos, sentam-se em silêncio, em suspenso, muito direitas, a ouvir os sons que se soltam dos dedos, do sorriso de Grigori Spektor, violinista russo ido (com Svetlana Kusselova e Jean Beuchat, pianistas) à sua terra para interpretar, vestido de smoking, música clássica. É um suavíssimo milagre que, de vez em quando, acontece ali.
A vila tem uma banda desde 1930, a Lira Corvense, que ensaia todos os serões no salão nobre da Câmara. Integram-na famílias inteiras. Como a dos Fragas: o pai, João, no bombo, os filhos Rogério, de 17 anos, no trombone, Renato, de catorze, no contrabaixo, Ricardo, de doze, no trompete.
Com 11 anos, Zita, menina de olhar loiro que toca flauta, é um talento raro, «possivelmente um génio...», antevê o ucraniano Yuri, professor do Conservatório de Ponta Delgada (há vinte russos a dar aulas nos Açores), «... se for estudar para as escolas clássicas da especialidade».
Regularmente, por iniciativa do Governo e das câmaras locais, grandes intérpretes viajam pelo arquipélago. A música é nele (possui 107 filarmónicas, dezenas de bandas, de grupos, de tunas, de ranchos) uma constante. Como o vento, as flores, as brumas, as lagoas, os pássaros, as vacas.
A vida cultural desenrola-se com frequentes oscilações — basta um corvino constipar-se para o Corvo se ressentir —, pelo que é complicado planificá-la. Daí que o rancho folclórico (patrocinado por Tomás Ribas), o grupo de teatro (dirigido por Leandro do Vale), a tuna (animada por Tibério Silva) tenham ido à vida.
Também o foram a rádio clandestina, Há Piratas no Canal, e a Rádio Televisão do Corvo (RTC), iniciativas de João Cardigos, que chegaram a emitir com êxito e audiência para outras ilhas.
No desporto as coisas não são muito diferentes. Não há clube de futebol, mas há equipa de futebol de salão. E há xadrez, e mergulho, e automobilismo — quer dizer, «tractorismo», pois os ralis são não de bólides de corrida mas de motocultivadoras com atrelados (existem oitenta) e de motoretas (trinta).
As estruturas dirigidas ao público pertencem, por escassez de iniciativa privada, à Câmara. São dela (parece um território «estatizado») a padaria, o restaurante, o café, o pub, a estufa, a meteorologia.
Manuel das Pedras Rita, então presidente da Câmara, emigrante regressado dos Estados Unidos, conta que preferiu «ser pobre mas livre» na sua terra, do que «rico mas escravo» na dos americanos. «Muitos dos emigrantes apercebem-se, quando vêm cá de férias, que algo está errado nas suas vidas. Que o dinheiro não é tudo. Vêem que a realidade da ilha mudou, que as casas têm conforto, que a pecuária rende.»
Não há palácios na vila. Nem casas senhoriais. Nem barracas. Os edifícios são (à semelhança dos da Beira Alta) de pedra negra, com rés-do-chão, andar e lojas para alfaias e animais.
Nos últimos anos as paredes começaram a ser caiadas. Surgiu o tijolo, o alumínio, a água canalizada, o gás, o quarto de banho, o maple, a estante, o fogão, o esquentador, o frigorífico, a televisão, o vídeo, a aparelhagem sonora.
A divisão principal é o lugar de culto (Espírito Santo e Sagrada Família) e de reunião. A cozinha, espaço onde se come, trabalha, conversa, preguiça, é dominada por um armário (móvel açoriano) embutido na parede, ao alto, com gavetas para o pão, as louças, os serviços, as toalhas, os faqueiros.
O vão da escada que liga o piso térreo ao superior funciona, por ser fresco, como arrecadação-dispensa de salgados, carnes, farinhas, bebidas e mercearias.
As pessoas não abandonaram os lugares, as ocupações tradicionais. A sua dependência da televisão é frouxa.
Vê-se a RTP Açores, a RTP Internacional e os canais trazidos pelas parabólicas, que abundam.
Um dos hábitos mais deliciosos é o de assistir ao fim da tarde, no Café da Câmara, aos telejornais de Lisboa. Não pelo que eles dizem mas pelo que, sobre eles, dizem os presentes - que não parecem sentir-se isolados nem desinformados do que se passa distante.
O seu sentido de crítica, de ironia, de maledicência, de insinuação, revela-se, na verdade, notável. Até porque a maior parte das notícias chegadas do mundo de fora ficam, no mundo dali, com uma dimensão irreparável de caricatura.
O marechal Carmona, que uma vez visitou, por um dia, o Corvo, foi recebido com um cartaz gigantesco dizendo: «Seja bem-vindo a esta terra!» O cartaz estava no cemitério.
Todos os últimos presidentes da República (também D. Duarte Pio) estiveram na ilha. Mário Soares pernoitou mesmo nela. Presidiu a um banquete colectivo no largo do Espírito Santo e ficou em casa (a mais moderna da terra, na altura) de Oscar Nunes, antigo cabo-de-mar.
O quarto onde dormiu permanece inalterado, como uma peça de museu. A mesma colcha, os mesmos objectos, os mesmos tapetes. A cadeira onde se sentou, na sala de estar, foi gravada com as iniciais «M. S.». A fotografia presidencial ficou para sempre em lugar de honra.
Antigo correspondente do Diário de Lisboa e colaborador de jornais açorianos, Oscar Nunes tem um diário sobre a vida local. São anos de apontamentos, de casos, de reflexões, de secretismos, que conserva para si, passado de uma memória sem revelação previsível.
«Numa lancha vinda da ilha das Flores, chegaram os restos mortais do 1º cabo José Luis Pedras que, honradamente e em combate, faleceu. Foi o primeiro soldado corvino falecido em guerra», lê-se nele.
«Aparece pela primeira vez, sobrevoando a ilha, um helicóptero. Todos admirados, até os que já conheciam, o contemplam. Acertadamente alguém diz: “Se tivéssemos um destes aparelhos não havia tanta preocupação com doenças, andávamos com o coração mais à larga.” Em parte até resolvia o, então insolúvel, problema do médico», podemos ler.
Oscar Nunes é, na vila, uma voz de cepticismo: «Vamos ter uma crise grave quando os jovens entrarem no mercado de trabalho e não houver emprego para eles. Ao tempo de rosas de hoje irá suceder um de espinhos.»
A maioria mantém-se, no entanto, confiante. «Se estivermos atentos [palavras de Manuel Rita] iremos, juntos, encontrando soluções, recursos. O amor que temos à ilha, a interajuda que existe entre nós são valores preciosos.»
Cinco é um número mágico no Corvo. Cinco letras (c, o, r, v, o) tem o seu nome; cinco estações (Primavera, Verão, Outono, Inverno, Vento), o seu calendário; cinco fases (Lua Nova, Quarto Crescente, Quarto Minguante, Lua Cheia, Lua Quente), o seu ciclo lunar; cinco características (solidariedade, lentidão, sabedoria, ironia, inteligência), a dos seus habitantes; cinco lugares (cais, povoação, encosta, monte, lagoa), a sua geografia; cinco tons (esmeralda, azul, negro, prata, alface), o seu verde; cinco odores (feno, maresia, leite, hortênsias, delírios), a sua atmosfera; cinco tempos (erupção, estabilização, descoberta, povoamento, arroteamento), a sua história.
Os corvinos conciliam como ninguém todos os contraditórios, todos os opostos: racionalismo e fatalismo, renúncia e prazer, acção e reflexão, passado e futuro, tragédia e farsa, feminino e masculino, novo e velho, crueldade e bondade, vício e virtude, ter e ser. Conciliam-nos para, confundindo-os, os acrescentar, os harmonizar.
As periferias constituem, sabem-no os corvinos, plataformas de inovação. É nelas, por elas, que surgem as transformações. O superior detecta-se no isolado, não no massificado; as margens fomentam a diferença; os núcleos, a uniformização; a diferença conduz ao superior; a igualdade, à indiferença -e esta à desistência.
Produto desvalorizado pelo excesso, o homem só deixará de ser um desperdício se escassear. Só atingirá a qualidade em si se controlar a quantidade de si. Só quando os nascimentos forem actos desejados (por opção, por disponibilidade), o ser humano e o ambiente ganharão, como sucede aqui, importância.
«A glorificação da produtividade eliminou as pequenas sociedades espirituais que ofereciam asilo àqueles que não se sentiam feitos nem para o consumismo, nem para a família, nem para a procriação. Fomentar territórios onde fervilham milhões de seres entre detritos é desonrar a espécie. O excesso demográfico transforma o homem em habitante de termiteiras e prepara todas as guerras futuras», escreve Yourcenar, mulher de ilhas.
Não apetece actuar, fazê-lo é quebrar a harmonia, a dormência, a quietude que tudo protege, aconchega.
A fuga à realidade criou uma realidade, outra, fictícia, quase feliz. É fácil acreditar nela, tomá-la por única, por autêntica, até se tornar única, autêntica.
O futuro é frágil. A quebra das exportações, o corte dos subsídios, a falta de empregos podem alterar o algodão-em-rama do presente. Presente em que o consumo de ansiolíticos cresce, em que os murmúrios substituem os gritos, os vácuos sucedem às neblinas.
Há na ilha uma certa atmosfera de fim. Séculos de cruzamentos entre a Europa, a América, a Africa, a Asia deixaram-lhe melancolias irreversíveis.
Os seus habitantes, suaves de gesto, densos de olhar, silenciam. A mistura de sangues afeiçoou-lhes as parecenças, as vibrações. De postura sedosa, abrem-se e fecham-se ao convívio com idêntica sedução.
Percorrer as ruas da vila, saborear o queijo fresco no Café do Xico, ouvir os acordes da banda na Câmara, parar no império do Espírito Santo é entrar num tempo dilatado do tempo, coisa só possível em espaços de eleição.
As paredes são rústicas; os ângulos, sólidos; as fachadas, expostas; os efeitos, gráceis. Basaltos, gradeamentos, telhados, cantarias contrastam com a amenidade geral - como um conjunto de quadros dentro de um quadro.
Paisagens, montes, vales, nuvens, marés, árvores, aves, ruas, sons, odores, corpos, tudo se aquieta/inquieta em molduras de reverberações. O sol, a água, o elanguescimento dão-lhes lumes de sul; os ventos, os fumos, os vinhos dão-lhes vertigens de norte.
Os colonos que desbravaram a ilha «não tiveram de travar guerras de extermínio para expulsar anteriores ocupantes. O seu anseio por uma vida melhor não teve de significar a morte nem a opressão de outros seres humanos», comenta Viriato Soromenho Marques.
Nas noites de Lua Quente, quando os garajaus cantam e o vento se detém, a Décima Ilha emerge. Luminosa, revela-se então aos que a crêem, a ficcionam.
Dona Isabel, D. Dinis, D. Sebastião, Camões, Padre António Vieira (que pregou ali), Damião de Góis, Gaspar Frutuoso, Mouzinho da Silveira, Almeida Garrett, Antero de Quental, Vitorino Nemésio, Raul Brandão, Santos Barros, Maria da Graça de Ataíde, Natália Correia evolam-se sem pressa, sem ruído, em cornucópias aladas, levitando por todas as ilhas, todas as encostas, todas as águas, entre sorrisos de pétalas e vibrações de maresia.
Defronte, as Flores imobilizam a corrente do canal, fazendo-o passadeira de prata para o bailado dos que, para sempre, se apaixonaram, se hão-de apaixonar pelo Corvo.
Voltada para o infinito, a ilha acrescenta o infinito, acrescenta-se com o infinito.
A partida da avioneta é antecipada. Sob as nuvens, o Corvo dissolve-se-me para sempre.
Rumamos, num orgulhoso Carocha, para o Rio de Janeiro. Deixámos São Paulo muito cedo, a convite do nosso anfitrião, caloroso editor, distribuidor, promotor, incentivador do livro português no Brasil.
No banco da frente, Agustina Bessa-Luís perora sobre história, política, cultura, ora provocadora, ora encantadora - como é o seu jeito.
Parámos na Senhora da Aparecida para uma visita à catedral; iremos parando, aliás, por muitíssimas zonas de serviço para nos refrescarmos e deleitarmos com especialidades da região. «No Douro há regueifas parecidas a estas», diz Agustina, mordiscando uma.
A passagem do tempo não a azedou nem adamou. Fê-la, pelo contrário, mais lúcida, mais curiosa, mais depurada, mais desprendida, mais acutilante. Mais irresistível.
«A imagem que transmito foi cultivada por mim, confesso. Aliás, agrada-me que as pessoas me reconheçam e falem na rua... mas nunca me levei a sério.»
O Brasil correspondeu, nas viagens que lhe fui fazendo por festivais literários, ao que imaginara dele. Foram, aliás, os livros (em criança lia, relia Erico Veríssimo, ocupante de toda uma estante da casa) que mo revelaram: um país de território acre, de gente coleante, de rituais oníricos, de comunicabilidade prestidigitadora; um país onde a ficção - na política, na economia, no romance, na crónica, no teatro, na música, na arquitectura, na TV, no Carnaval, nos sentimentos - vai à frente da realidade. «Para a convocar», dir-me-á, no seu refugio de Lisboa, Agostinho da Silva, uma referência cultural no espaço lusófono.
Com uma literatura riquíssima («Os povos de língua portuguesa possuem literaturas riquíssimas», adverte, em colóquio no campus universitário de São Paulo, Agustina Bessa-Luís, aonde vamos para encontros sobre livros), o Brasil resguarda nela, literatura, como Portugal, Angola, Moçambique, a sua expressão criativa mais genuína.
Os Veríssimos (Erico, pai, e Luis Fernando, filho) são-me traves de irreversível fascínio, como Manuel Bandeira (cuja escrita sabe a gim), Graciliano Ramos (a pimentos), Cecília Meireles (a ameixas), Clarisse Lispector (a alperces), Jorge Amado (a canela), Drummond de Andrade (a moscatel), Rachel de Queiroz (a tangerinas),José Rodrigues de Almeida (a bagaceira), Lins do Rego (a alface), João Ubaldo (a malte).
Envolventes afirmaram-se-me as viagens dobradas pelo Rio, São Paulo, Bahia, São Luís do Maranhão, Olinda, Manaus, Alcântara, Ouro Preto, Brasília, com Agustina, Saramago, Graça Moura, Baptista-Bastos, umas vezes, Alçada Baptista, Óscar Lopes, Teresa Rita Lopes, Helena Vaz da Silva, outras, inesquecíveis as visitas a Millôr Fernandes, Oscar Niemeyer, D. Hélder Câmara, Jorge Amado.
Nos desconcertantes debates no campus de São Paulo, Agustina provoca o auditório dizendo que a SIDA (AIDS) fora fabricada em laboratórios militares dos Estados Unidos para derrotar os gays e os imigrantes sul-americanos. Estava-se, então, no pico da epidemia, e o Brasil era a segunda região do mundo mais afectada por ela.
«É preciso desdramatizar os preconceitos sobre a doença», comenta-me. «Esclarecer que ela não é um castigo divino. Ora como as pessoas daqui são muito influenciadas pelas igrejas e pelos Estados Unidos, só lhes faz bem ouvirem destas!»
Perspicaz, a autora de Sibila havia-me chamado a atenção, ao chegarmos à cidade, para inscrições em esquinas, sugerindo com descarado humor: «Masturbem-se uns aos outros, é gostoso e não é perigoso.»
Pela imaginação («mãozinha e boquinha, tá?») o brasileiro tentava, dessa maneira, dar a volta à tragédia enfrentada. A camisinha tornou-se referência quotidiana nas TV’s, objecto de chistes amáveis nos talk-shows (como o de Jô Soares e o de Clodovil) que enchiam os canais abertos.
A televisão é a pele do Brasil, reverberação infindável do seu delírio, das suas contradições, «corpo-écran» miscigenado de cores, temperaturas, perversidades.
Em nenhuma outra parte ela é tão fantasista e alienante, permissiva e castigadora. Com o mesmo à-vontade, programas de desbragamento comportamental sucedem-se a programas de fanatismo religioso (seitas há que têm canais próprios), extremistas e indecentes no manipular de pulsões humanas.
A ênfase com que os pivots da bisbilhotice perguntam às suas entrevistadas se «transam com mulheres» e aos seus entrevistados se o fazem com homens é idêntica à dos pastores religiosos que aterrorizam os fiéis com as penas do Inferno pelos pecados da concupiscência.
«O júbilo dos brasileiros vem-lhe da combinação do pessimismo e do optimismo», prevenira-me o professor Agostinho da Silva.
Ser-se velho e feio no Brasil é terrível, consequência de uma subcultura autofágica, onde as pessoas não passam de desperdícios.
Morre-se cedo e depressa no Brasil. Os anciãos não são vistos, não são ouvidos. A experiência deles, a memória deles, a sabedoria deles, o apaziguamento deles não vivificam, não interessam ao país.
Mas eles são deslumbrantes! Deslumbrantes as antiquíssimas pitonisas dos morros, inesquecíveis mães de santos e de cachimbos, deslumbrantes os reformados das capoeiras, os dançarinos de samba, os longínquos tocadores do Sertão, os esquecidos gigolôs de Copacabana («açucarados e fora de moda», no dizer de Agustina); deslumbrante é (era) Austregésilo de Athayde, presidente da Academia Brasileira de Letras, que, aos 94 anos, preparava já a festa do seu centenário. «Irei comemorá-lo em Lisboa, pois um brasileiro que não ama Portugal é indigno de ser brasileiro, e o contrário também», afiança-nos entre chávenas de chá e bolinhos de canela. Não comemorou.
O Brasil tem «de se arrumar por dentro, é uma nação de fronteiras artificiais e de estados tortos», sublinhar-me-á Agostinho da Silva. «Portugal quis fazer dele um novo Império Romano e isso distorceu-o, daí que o Brasil tenha de se libertar, de assumir as suas autonomias, de voltar às suas culturas iniciais, a índia, a portuguesa (a fugida daqui) e a africana, a dos negros levados para lá depois de Alcácer-Quibir.»
A deformação que o país ostenta vem-lhe das culturas alheias, sobretudo da norte americana que o degrada, o hipoteca com a conivência de 20 por cento da população, a que detém 80 por cento da sua riqueza.
«A vinda de brasileiros para Portugal, para a Europa», reforça o autor de Carta Varia, «vai continuar, embora diminua.
Não é de surpreender uma certa má vontade com que os recebem. É que eles são iguais aos portugueses que, outrora, foram expulsos porque aqui não lhes suportavam a subversão, a liberdade, a ousadia.»
E Agostinho da Silva carrega: «Os tipos que estavam outrora no Governo são os mesmos que estão agora, o que significa que não apreciam os subversivos, os libertários, os ousados. O que os brasileiros têm a fazer é estudar bem a história de Portugal e entrar nele como D. Afonso Henriques entrou em Lisboa: pulando as muralhas. Mas com cuidado, para não ficarem entalados nas portas. É entrarem pela Europa dentro a falar português em ritmo de samba, como os mexicanos fizeram nos Estados Unidos onde cerca de metade da população é hoje ibero-americana e fala espanhol.»
Numa recepção no Palácio de São Clemente, no Rio, para onde nos deslocamos a seguir, quatro idosos vestidos de negro procuram-me: querem que o público português conheça as circunstâncias em que viveu e morreu Marcello Caetano no seu exílio do Rio de Janeiro.
Os quatro eram figuras de destaque da comunidade lusa do Brasil, comendadores reconhecidos por actividades económicas, filantrópicas e culturais. Deles destacou-se Salustiano Lopes que, subtraindo-me à comitiva literária, me mergulhou pelos lugares de acolhimento do último líder do Estado Novo, em surpreendentes viagens de crispação e melancolia.
Agustina não se interessou pelo convite. Não apreciara Marcello, nem Salazar, nem Sá Carneiro, nem Mário Soares. Acho que não apreciava ninguém. «Está enganado. Gosto bastante, por isso o apoiei, do general Eanes (tenho uma grande estima por ele e pela mulher) e do professor Freitas do Amaral.»
Amizade, e profunda, tinha-a Agustina pela primeira mulher de Sá Carneiro, Isabel Sá Carneiro. «As pressões para formalizar a separação surgiam-lhe de todos os lados», vai contando enquanto o Carocha nos envolve em verdes de plantações infindas. «A Snu Abecassis não passava de uma substituta na vida do Francisco; não acredito na sua paixão por ela. E dela por ele houve apenas deslumbramento. A Isabel tinha-se afastado por causa da política, não foi ele quem a deixou, como se diz. O Francisco, que nunca recuperou disso, ficou muito inseguro, agarrando-se a Snu. Se não tivesse morrido, iria cansar-se e voltar para a mãe dos filhos. A política tornou-se uma maneira de ele dar significado à existência; não era um grande líder, não era sequer um grande político. Sempre que Sá Carneiro se deslocava ao Porto, Snu impelia-o a levá-la consigo. Como se no Porto houvesse um foco de perigo, o que aconteceu no dia 4 de Dezembro de 1980. O que poucos sabem é que a Isabel esteve em minha casa na véspera e disse-me que resolvera aceitar o divórcio. A única coisa boa que ficou disso tudo foi a pensão que ela passou a receber como viúva de primeiro-ministro.»
O nosso cicerone falava, então, na injustiça de não haver um Nobel na literatura portuguesa. E sorri para Agustina que, matreira, o (nos) desconcerta: «Quem o vai receber é o Saramago, tudo aponta nesse sentido. Houve uma altura em que eu gostaria de o ganhar, mas apenas para dançar com o rei, como fez a Pearl Buck, que valsou com ele no Palácio de Oslo. Hoje, em vez do Nobel da Literatura, preferia ganhar o da Paz, ou um que fosse voltado para os aspectos mais desconhecidos da natureza humana, do coração humano. O que não tem nada a ver com bondade ou maldade, já que o bem e o mal não passam de uma tábua rasa. Queria muito, se pudesse, escrever sobre o amor e a paz, coisas que não se ensinam entre nós. Ensina-se tudo, o sexo e as maneiras de o fazer estão nos compêndios escolares, mas o amor e a paz não. Penso que a guerra é um amor frustrado do ser humano, tudo parte daí, da falta dele. Não sei, porém, se desocultar isso não será tirar-lhe o mistério.»
Aproveito a maré para a espicaçar: «Dizem que a Agustina é forreta, mas pelo que tenho visto...» «Ora, eu não preciso de dinheiro, viajo para onde quero, em boas condições, tenho os livros que quero para ler, a independência de que necessito. Mas ter muito dinheiro é prejudicial, e o ter pouco também», ri-se ela. «As vezes, quando penso nas pessoas que possuem grandes fortunas, pergunto-me: “O que é que elas fazem, afinal, de interessante?” Gosto, no entanto, e muito, de dinheiro. De o manusear, de o amealhar, de comprar coisas boas, caras, adoro tudo o que tem qualidade! Sou vaidosa como milhões de mulheres. Tornei me, porém, económica, porque não encontro nada que me agrade. Não tenho, e sou muito bem paga, onde gastar o dinheiro. Lamento é não haver relação nenhuma entre o valor do escritor e o valor do que ele ganha com os seus livros.»
Duas freiras acenam-nos à saída da Senhora da Aparecida. Agustina retribui. «Não me diga que lhe agradava ter sido freira», ironizo. «Freira, só, não; mas abadessa, sim. Abadessa nos tempos de D. Sebastião e dos Filipes», atira-nos de chofre. «Nessa altura, e por terem morrido milhares de jovens em Alcácer-Quibir, ficaram muitas meninas por casar que se acolheram aos conventos. Usavam arminhos, peles valiosas, perfumes, jóias debaixo dos hábitos, era um luxo, uma maneira de se consolarem da sua “solteiria”.»
Saboreando o nosso espanto, finge justificar-se: «Estou numa fase de juventude precoce! Aceito tudo de uma maneira natural, não deixo que a minha razão interfira. Precisamos de ser estimulados.»
O nosso companheiro volta a embevecer-se com a obra de Agustina. E Agustina volta a desconcertar-nos: «Há dias em que preferia ser cineasta. Gosto imenso de cinema, mas no cinema via-me, sobretudo, como realizadora, função muito parecida com a de escritor. Tinha, porém, de viver nesse meio, e isso não me interessa. Penso, aliás, que para o público era mais aliciante que eu tivesse uma maior participação nas adaptações dos meus livros... Mas o Manoel de Oliveira não deixa, chega a tornar-se intransigente. Mas somos muito corteses.»
Mais uma paragem, mais um chá, mais um petisco, mais uma provocação: «A Agustina é conhecida por ser perversa», insinuo. Ela, rápida: «Sou sobretudo curiosa, muito curiosa. A curiosidade é o princípio de todas as renovações. Porque gosto das pessoas, sou imensamente curiosa delas. Há tempos estava à espera do comboio para Lisboa, quando surgiu uma mulher e eu convidei-a a sentar-se no banco, a meu lado. Sentou-se e falou todo o tempo sobre si, necessitava de alguém que a ouvisse. Essa capacidade da pequena vagabundagem que as mulheres têm a partir de certa altura, normalmente depois de criarem os filhos, de serem viúvas, de estarem reformadas, é verdadeiramente deliciosa.»
Agustina pressionar-me-á, em folga de andanças sociais/intelectuais, a acompanhá-la por boutiques de luxo, de engodo, divertindo-me com os seus conhecimentos de moda, tecidos, cores, talhes - e com o seu enlevo ao ver-se reconhecida por uma caixeirinha estudante de literatura.
É comovedora a dedicação de Salustiano Lopes, minhoto poderoso no mundo dos negócios e ângulo aberto na vasta comunidade portuguesa.
Inclinando-se com recolhimento, o comendador depõe um ramo de crisântemos amarelos e brancos, comprados à entrada do cemitério, o belíssimo cemitério de São João Baptista, no mausoléu de Marcello Caetano.
Em mármore arroxeado, linhas direitas e discretas, o monumento destaca-se na área lateral do recinto. Ao alto, o busto em bronze do falecido; em primeiro plano, a reprodução de um livro aberto, também em mármore. Há flores em solitários e em vasos de pedra. A brisa refluxa folhas de árvores e de memórias.
«Uma hora antes de ele morrer, eu tinha-lhe telefonado para irmos passear, como fazíamos aos fins-de-semana», evoca Salustiano Lopes. «Respondeu-me que não podia porque tinha visitas, eu que fosse almoçar com ele. Não quis incomodá-lo. Pouco depois contactaram-me de sua casa a dizer que acabara de falecer. Estivera a ler os jornais, fora ao quarto de banho lavar as mãos e, quando regressava, caiu redondo. Dizia-me que desejava adormecer e ficar-se durante o sono, mas só após a irmã partir, para não ficar ao abandono. Não ficou, ela recolheu-se a uma instituição de Lisboa, em Odivelas, onde expirou. Corri para casa dele. Daí a nada surgiu uma carrinha da Misericórdia para levar o cadáver. Mas o caixão não cabia no elevador, que era muito pequeno. Então peguei no seu corpo ao colo, envolto num lençol, já vestidinho. Abracei-me a ele e desci. Na portaria coloquei-o na urna. Quando chegámos à capela do cemitério e vi o abandono do local, pensei: “Então um primeiro-ministro de Portugal, do meu país, vai ser tratado assim?” Não podia ser. E, politicamente, eu nem sequer era marcelista. Com a ajuda de outros conterrâneos, levámo-lo para o Real Gabinete Português de Leitura, transformado em câmara-ardente. Ficou, como certamente gostaria, no meio de 300 mil livros! O seu funeral foi grandioso. Mandámos mais tarde construir este túmulo e este busto. Há sempre gente que vem cá pôr flores e rezar.»
Conheceu-o quando Marcello Caetano deixou São Paulo, onde se hospedara no Hotel Hilton, ao chegar da Madeira. A estadia foi paga por um antigo aluno seu.
«Como não tinha dinheiro ingressou, no Rio, num convento, o Mosteiro de São Bento, que é uma construção muito grande, a lembrar Mafra. Esteve lá de 26 de Maio a 7 de Junho. Meses mais tarde, arranjou emprego na Universidade Gama Filho e alugou um apartamento no centro da cidade, em Flamengo. Aborrecia-se muito. Uma vez disse-me: “Estou a ficar aflito, o vencimento que recebo nem sempre chega. Estou a ver que tenho de mudar para uma casa mais longe e mais barata.”»
O que o magoava mais, e «disso se me queixava, era o comportamento de alguns amigos. Eu procurava, porém, evitar que ele caísse na recordação do passado, procurava distraí-lo, levava o a passear; ele gostava muito de ir, por exemplo, a Petrópolis. Conduzia a conversa para coisas ligeiras, alegres, dizia-lhe piadas. Ria pouco. Fizera-se um homem muito triste e muito só. Um dia telefonou-me: “Podemos ir dar uma volta? Sinto-me desesperado!” Metia a mão debaixo do meu braço, e ficávamos horas a passear pelas ruas. Falava muito na morte e na recusa em regressar à Pátria. Uma vez que não voltaria em vida, também não voltaria em morto, repetia-me. Acompanhava tudo o que se passava em Portugal, vinha muita gente de Lisboa visitá-lo. Aqui era acarinhado por todos nós, de nós não levou queixas, não! A nossa colónia é muito dedicada aos que estão em situação difícil, sejam eles quem forem».
As autoridades portuguesas do Rio mostraram-se sempre de grande delicadeza (exemplar o comportamento do então cônsul Orlando Bastos Villela) para com ele.
A última fase da vida de Marcello Caetano simplificara-se ao máximo: janta em casa com a irmã, vê a telenovela da noite, joga cartas, lê, deita-se cedo. Tem insónias e saudades.
De manhã responde à correspondência chegada de Lisboa, respostas longas, crispadas. «Estou ulcerado pela ingratidão e injustiça», confidencia. Ministra cursos de pós-graduação, escreve, profere conferências e palestras. Aborrece-se: «Não faço nada, só leio jornais e tomo cafezinhos.»
Não se sente bem consigo, nem com os outros. A vida encurralara-o.
Das últimas horas de Lisboa, Marcello Caetano guardará com consideração dois rostos de militares: o do major Salgueiro Maia que, no Carmo, lidou a sua rendição, e o do tenente coronel Fischer Pires que, na Pontinha, preservou o seu estatuto.
«Quando o carro e a escolta que o haviam de levar ao aeroporto estavam preparados», recorda-me Fischer Pires, «fiai bater-lhe ao quarto: “Senhor Professor, não se importa de me acompanhar?” “Com certeza”, respondeu. Pegou numa pastinha e desceu. Ao entrar na viatura fiz-lhe continência: “Senhor primeiro-ministro, muito boa viagem!” Ele parou e disse me: “Senhor tenente-coronel, peço que agradeça aos seus camaradas a maneira extremamente correcta como me trataram aqui. Desejo a todos as maiores felicidades.” Estava abatido mas mantinha uma dignidade extraordinária, sempre muito calmo e silencioso. Ao contrário dos ministros, alguns tiveram de ser assistidos pelo médico, que choravam sem cessar.»
É antiga a solidariedade dos portugueses do Brasil para com os compatriotas chegados por exílio, por fuga, por sobrevivência. Ao longo de décadas, ora à esquerda, ora à direita, esse acolhimento manteve-se sempre pronto, generoso e renovado.
Escapados ao salazarismo, ao marcelismo, ao 25 de Abril, ao gonçalvismo, à descolonização, milhares deles, revolucionários e conservadores, intelectuais e analfabetos, governantes e delinquentes, encontraram no país-irmão afectos indescritíveis.
«O professor Marcello Caetano era muito orgulhoso, dificilmente aceitava as ofertas que lhe fazíamos. Usávamos de subterfúgios para que ficasse com elas. Enternecia-se, no entanto, com os gestos de carinho que tínhamos, como uns doces, umas frutas, umas lembranças. O Gama Filho pôs à sua disposição gabinete e carro com motorista; ele chamava-lhe, por brincadeira, Gama Pai», refere Benvinda Maria, jornalista e empresária portuguesa.
«Sim, fazíamos isso com ele, com Américo Thomaz e com Tenreiro», de novo Salustiano Lopes. «Combinávamos entre nós: um dia, um levava peixe; outro, carne. Era assim. O almirante Américo Thomaz, esse, parecia uma criança com saudades de Portugal. Chorava sempre que se falava da Pátria, não dizia mal de ninguém, nem dos que fizeram o 25 de Abril, apenas queria voltar. Ramalho Eanes, homem sério e corajoso, conseguiu isso.»
Contíguo ao túmulo de Marcello Caetano, um outro, igualmente de mármore roxo e busto de bronze, chama as atenções. E de Nelson Rodrigues, o notável dramaturgo brasileiro - que o antigo presidente do Conselho detestava (designava-o, dados os temas das suas peças, por o imoralão), e que o destino pôs, ironicamente, a seu lado.
Marcello era, perante assuntos fracturantes, um espírito retraído. Desde muito novo que se indignava (Salazar mostrava-se mais arejado) com eles. Pertenceu, por exemplo, ao grupo dos que atacaram António Botto e Raul Leal por terem assumido, em livros, a sua homossexualidade. Entrou igualmente em boicotes a espectáculos «esquisitos», como A Garçonete, que Lucília Simões representou no Trindade, e Mar Alto, peça de António Ferro retirada, por «indecente», à terceira representação.
Detestaria mais tarde, pelas suas «inconveniências», Jorge de Sena e Natália Correia. A esta, chegou a virar costas, recusando cumprimentá-la devido à publicação da Antologia de Poesia Erótica e Satírica — objecto de processo judicial.
As notícias sobre a odisseia dos portugueses fugidos das colónias golpeiam-no. A tragédia do seu êxodo, um dos mais pungentes da segunda metade do século XX, a nível mundial, deixa-o sem dormir.
Africa dilacera-o. Desde muito novo que a percorria, inventando-lhe destinos e grandezas, futuros e dilatações.
Seria, pensava, a terra da sua consagração. Através dela ultrapassaria Salazar, que a não conhecera nem sofrera; através dela agigantar-se-ia, criando-lhe um novo mundo de expressão portuguesa.
A Angola branca parecia ter, então, o destino nas mãos. Durante muito tempo comportou se, planeou, actuou, sonhou como tal - tal como Moçambique. Quando as duas colónias se aperceberam da realidade, era tarde.
«O sonho de meu pai era não perder Africa, era criar nela um novo Brasil», evocará Ana Maria Caetano, numa das suas deslocações ao Rio. «Ele tinha a sensação de ser apoiado na política ultramarina; havia manifestações de massas por toda a parte por onde passávamos. Pouco antes do 25 de Abril, no estádio de Alvalade, por exemplo, o meu pai foi alvo de grandes aclamações, eu estava presente, e dias depois queriam matá-lo!»
À distância, o ex-presidente do Conselho assiste ao criar da democracia (mais simples do que imaginara, acreditara) em Portugal. Ante a sua surpresa, o país inflectia, primeiro, para o centro-esquerda, através dos soaristas e, depois, para o centro-direita, através dos antigos marcelistas.
Protegido pela Internacional Socialista, pela Comunidade Europeia, pela Maçonaria, pela Opus Dei, pelos Estados Unidos, o centralismo triunfava em toda a linha.
As noites do Rio lembravam-lhe as de Africa, Africa que não era, dizia, «dos pretos nem dos brancos», mas dos que, «pretos e brancos, a amavam» como ele.
Mais alguns anos, três, quatro, e tudo iria, afirmava, resolver-se. Autonomizar-se-iam Angola e Moçambique, elites negras surgiriam, largar-se-ia a Guiné, a guerra diluir-se-ia, a opinião pública mudaria.
Internamente, o incremento de medidas sociais chamaria para o seu lado os mais desfavorecidos, o desenvolvimento económico e cultural esvaziaria oposições; poderiam, inclusive, surgir dois ou três partidos políticos.
Américo Thomaz combinara com ele, pouco antes de ser reeleito pela última vez Presidente da República, que renunciaria ao cargo em Outubro de 1974, dando assim tempo a Marcello Caetano para preparar eleições para a Assembleia Nacional e para Belém. Nessa perspectiva, ele, Marcello, deveria candidatar-se à chefia do Estado e designar para a do Governo um jovem capaz de negociar com os movimentos de libertação. O 25 de Abril não deixaria comprovar a viabilidade do projecto.
«Com mais tempo, talvez Marcello Caetano ganhasse», anota o historiador Vasco Pulido Valente. «Ele deixou, aliás, o país muito melhor do que o encontrou: mais moderno, mais próspero, mais igualitário.»
O Rio de Janeiro asfixia-o frequentemente: «Tudo isto é muito belo, mas não chega para me preencher a alma.» A cidade agride-o com a sua trepidação, a sua exuberância, a sua desfaçatez, os seus excessos.
Sente-se morrer no Carnaval. Foge então para os arredores até a quadra passar. Foge também para os arredores quando chegam ao Brasil, em visita oficial, governantes de Lisboa.
Mata a saudade de Portugal com o ressentimento por Portugal. «Voltar seria uma homenagem prestada a quem governa o país. Seria reconhecer que existem condições de segurança, de subsistência e de convivência para um português como eu. Ora, se voltasse, iria encontrar tudo o que amei profundamente alterado», afirma ao jornal A Voz de Portugal, «viver lá seria para mim uma fonte de constantes desgostos e, sobretudo, a recordação permanente de muitas traições.»
A ida de Marcello Caetano e Américo Thomaz para o Brasil, quando se encontravam detidos no Funchal, na sequência do 25 de Abril, foi várias vezes programada e adiada devido a resistências políticas. Pessoalmente, ele preferia radicar-se em Madrid, onde tinha amigos e onde desfrutava de grande prestígio no mundo universitário.
«A ideia de os enviar para o Rio de Janeiro foi do general Spínola e minha», revelar-me-á o marechal Costa Gomes: «Quando souberam da decisão, os outros elementos da Junta Governativa mostraram-se aborrecidos por não terem sido consultados. Era preciso, porém, actuar depressa, de modo a evitar problemas.»
O Itamari não se mostrava receptivo à ideia, até porque deixara, a partir de meados da década de 1960, de apoiar a posição ultramarina portuguesa, começando a afastar-se dela.
Pouco antes do 25 de Abril, o Presidente Geisel ordenara ao ministro das Relações Exteriores, António Francisco da Silveira, que, em Setembro de 1974, votasse nas Nações Unidas contra a política de Lisboa. Em 1970, houve mesmo quem tivesse proposto o corte de relações entre os dois países. O ministro Gibson Barbosa opõe-se à venda de veículos blindados ao Exército português. «Queríamos evitar», afirmou, «qualquer envolvimento, ainda que aparente, de carácter político, militar ou comercial.»
Irritado com o Brasil, Marcello Caetano crispa-se: «Em breve já não haverá mais gente em Portugal para lutar. Os militares farão um golpe de Estado se eu der a independência a África!», exclama.
Para ganhar tempo, manda dizer a Gibson Barbosa que está disposto «a entabular conversações para a independência da Guiné, ou mesmo a concedê-la unilateralmente».
As propostas que lhe chegam (e as que ele dirige em segredo aos movimentos de libertação) ficam, no entanto, sem resposta. A indecisão, a paralisia fazem-se-lhe fatais.
O velho edifício do Estado Novo escapava-se-lhe das mãos, esfarelava-se-lhe nas mãos. Passou a desejar, a partir de certa altura, que tudo acabasse depressa. Foi, aliás, com subtilíssima resignação que na madrugada de 24 de Abril se dirigiu, no automóvel de um inspector da PIDE, para o quartel do Carmo. Não tentou resistir ou fugir. A jornada dos últimos tempos ia acabar - para ceder lugar a outra, expressa em viagens de singularíssima imprevisibilidade.
Às seis da manhã do dia 20 de Maio, Marcello Caetano e Américo Thomaz dirigem-se do Funchal a Porto Santo, de onde embarcarão para o Brasil.
São levados em segredo, a fim de se evitarem reacções de hostilidade, e entram no Pirata Azul, na doca da Pontinha, embarcação que liga as duas ilhas. Os oficiais prestam-lhes honras militares.
O mar, na Travessa, está picado. O almirante enjoa. Marcello senta-se nos bancos do fundo. Será a última viagem marítima que faz.
Um Boeing da TAP deixa-os, no fim desse longuíssimo dia, em São Paulo, de onde irão, nas horas seguintes, para o Rio.
Cerca de um ano mais tarde, António de Spínola, fugido de Portugal, sofre o mesmo destino — foi das poucas vezes que Marcello Caetano riu com gosto.
Os anos de 1968 e 1974 marcaram o cume e o abismo da carreira política de Marcello Caetano. Nomeado sucessor de Salazar a 26 de Setembro de 1968, ocupou, ante as expectativas gerais, a presidência do Conselho de Ministros, introduzindo-lhe o seu estilo de governação e comunicação.
Semi-retirado, até aí, da vida pública, o seu quotidiano dividia-se entre a biblioteca da sua casa, em Alvalade, e o gabinete da faculdade onde leccionava, na Cidade Universitária. Escrevia, cuidava da mulher doente, passeava os netos, dava pareceres, realizava conferências - esperava.
Não aparecia em cerimónias públicas nem em notícias da imprensa. Acontecia-lhe, aliás, estar assim ciclicamente: ou no primeiro plano da actualidade, ou em plano nenhum dela.
As aproximações e os distanciamentos do poder eram geridos por si com minúcia, com subtileza. A imagem de independência, de autonomia criada à sua volta (proporcionadora, mais tarde, de dividendos junto de alguns sectores de esquerda) deveu-se a isso.
Uma Primavera o levou para a política (a de 1932, quando foi incumbido de ajudar a redigir a Constituição do Estado Novo), uma Primavera o afastou dela (a de 1974, quando os capitães derrubaram o regime).
Pelo meio ficaram-lhe, descontínuas, estações em que desempenhou cargos de relevância e publicou obras de referência.
«Primavera Marcelista» chamariam, de início, ao seu curto consulado. «Era o homem das primaveras frustradas», sibilar-me-á Franco Nogueira, seu adversário e rival. «Deram todas em borrasca, em calamidade, como era, aliás, de prever.»
A volúpia do poder durou-lhe, ao contrário de Salazar, muito pouco. A excessiva espera por ele provocou-lhe a excessiva obsessão dele. Quando o tomou, tomou também o travo das suas contradições, dos seus apodrecimentos.
Mudanças profundas iriam, pressentia-se nesse começo de 1968, suceder. Na Europa, Maio aproximava-se de Paris e da rebentação de Praga; na Asia, os Estados Unidos e o Vietname iniciavam conversações de paz; em Africa, os movimentos de libertação estruturavam-se e projectavam-se.
Desanuviador, o novo presidente do Conselho autoriza o regresso de exilados — casos do bispo do Porto e de Agostinho da Silva, de Maria Lamas e de António José Saraiva - e deixa Mário Soares sair de São Tomé.
Reformula a censura e a repressão, apoia um projecto de Lei de Imprensa. Trava o condicionamento industrial e os monopólios e obtém para Portugal o estatuto de membro associado do Mercado Comum.
Permite a Ala Liberal, a SEDES, o Expresso. Cria pólos de desenvolvimento regional, inicia auto-estradas, redes de frio, bairros sociais. Estende a previdência aos camponeses e às empregadas domésticas e a ADSE aos funcionários públicos. Aprova a Lei Orgânica do Ultramar, visando autonomias políticas progressivas para Angola e Moçambique. Enceta, a partir de 1969, diálogos regulares com o público através da RTP, num espaço que intitula de Conversas em Família.
O estado de graça mantém-se-lhe até 1972, altura em que atinge o máximo de intensidade. Uma viagem que faz a Angola e Moçambique torna-se, pela euforia e vibração desencadeadas, impressionante. Recebido em delírio por toda a parte, não encontra, não provoca afloramentos de contestação ou repúdio.
Comete, então, um erro: interpreta ao contrário o significado dessas apoteoses. Elas não exprimiam apoio ao regime, exprimiam incentivos ao dirigente que, pensava-se, lhes iria dar a independência.
Marcello Caetano, que precisa de ter entre si e os outros rituais de rotinas que lhe absorvam os imprevistos, as inquietações, aparta-se cada vez mais da realidade.
Não sabe agir com o mando, não sabe agir sem o mando. Torna-se um paradigma antecipado do fenómeno (um dos mais curiosos da actualidade) da exaustão dos homens pelo poder. «Estou cansado dos males e dos remédios», repete.
Cai sob a síndroma de Hamlet, doença que tem atingido, destruído muitos dirigentes ao longo da História, e que Shakespeare fixou na sua obra.
«É uma perturbação», anota o psiquiatra Eduardo Luís Cortesão, «que fragiliza psicologicamente os detentores de altos cargos. Manifesta-se por dúvidas e hesitações crescentes que acabam por fazer desistir, destruir os que as sofrem, conduzindo-os, frequentemente, à inacção, à renúncia, à loucura, ao suicídio.»
Marcello Caetano não tem a sustentá-lo nem a força mítica de Salazar, nem o aval (o voto) da democracia. Isso fá-lo sentir-se desconfortável. Sem energias para provocar um sufrágio, busca a legitimidade em formulações ideológicas, em preceitos jurídicos, em compromissos políticos de escassa valia.
A direita e a esquerda distanciam-se-lhe. Os militares, divididos entre uma e outra, soltam se; os católicos, ultrapassando uma e outra, afirmam-se.
A sua solidão intelectual torna-se atroz. O seu patriotismo (raros se dedicaram a Portugal como ele), a sua ambição (escassos investiram no poder como ele), a sua angústia (poucos se questionaram como ele), o seu ressentimento (ninguém se macerou como ele) fizeram-no uma personagem singular no grande mistério do nosso drama colectivo.
«Era fechadíssimo, com um feitio superdificil, rancoroso, não perdoava. Chamavam-lhe o Pisca: ora pisca à direita, ora pisca à esquerda», defini-lo-á Cecília Supico Pinto, a poderosíssima (e salazaríssima) presidente do Movimento Nacional Feminino.
Com frontalidade, o visado admitirá no exílio: «Sim, hesitava porque tinha medo. Quando pensava no que poderia suceder aos portugueses estabelecidos no Ultramar em consequência de um passo em falso do Governo, na desgraça das famílias brancas, na perseguição aos nativos fiéis, na derrocada da economia que construímos, na ruína da nossa obra civilizadora, tinha medo.»
Último cônsul do colonialismo português, Marcello Caetano «suicidar-se-á» por África, arrastando consigo, como D. Sebastião, o regime que personificara e o império que herdara.
«Com a sua partida inesperada no dia 25 de Abril de 1974, nós, os seus familiares, tivemos de decidir o que fazer com a casa e com a documentação que lá se encontrava», pormenoriza me o seu filho Miguel Caetano. «Acresce que, pouco tempo depois, a residência foi assaltada, o que levou à decisão imediata de meter todos os documentos que se entendeu de interesse em malas e escondê-las onde nos pareceu mais seguro. Existiam ainda alguns processos, sobre os quais o meu pai estava a trabalhar, que pertenciam à Presidência do Conselho. Já não me lembro se pelo telefone, se por carta, ele identificou esses processos e disse-nos para os entregar no gabinete do primeiro-ministro, o que foi feito pelo meu irmão José Maria.»
Vasco Gonçalves, primeiro-ministro em 1975, proibiu o envio da sua biblioteca particular (40 mil volumes) para o Brasil, fundamental às investigações que pretendia desenvolver.
Um ano depois, porém, Mário Soares, na chefia do Governo, fez com que ela lhe fosse entregue. Doou-a à Universidade Gama Filho, onde ocupa uma sala com o seu nome.
Marcello Caetano sente que os fios da vida se lhe quebram rapidamente. O dia-a-dia pesa lhe cada vez mais: «É um fardo insuportável», desabafa para Salustiano Lopes. Alguns livros e alguns amigos são as únicas notas de amenidade que lhe restam. As terças e quartas-feiras rege História do Direito na faculdade e, às quintas, desloca-se às reuniões do Instituto Histórico e da Academia Brasileira de Letras, pontificada por Austregésilo de Athayde, com quem simpatiza e ironiza.
O acabrunhamento desaba-o, porém. O sofrimento físico aumenta, problemas cardíacos, bronquites, operação à próstata sucedem-se.
Pouco antes de morrer exclama: «Estou velho, estou sem saúde. Que o fim seja rápido. Tenho horror ao sofrimento, e já recebi dele um bom quinhão na vida!» Tem 75 anos.
Na manhã do dia 26 de Outubro de 1980, manhã amena, tudo acaba depressa para si.
Conto em pormenor a Agustina, nos serões dos hotéis por onde jornadeamos, as minhas romagens marcelistas. Ela ouve-as atentamente, curiosamente. No regresso a Lisboa diz-me, ao despedir-se, para as escrever, pois ninguém em Portugal se interessou pelos dias do fim de Marcello Caetano, «que merecem ser conhecidos, pense-se o que se pensar dele». E sorrindo, confidencia: «Sabe, esta foi das viagens mais interessantes que fiz até agora. Adorei andar no Carocha!»
No início deste século, Salustiano Lopes regressa à sua terra, no Minho. Agustina Bessa-Luís adoece, perde capacidades, memórias, intervenções — e retira-se para sempre da vida pública e literária.
Para mim, as viagens ao Brasil terminaram.
Sob vento de feição, o belo veleiro entra no Atlântico. A barra do Tejo rapidamente fica para trás. Saboreando a maresia, Agostinho da Silva, convidado do comandante, vai de pé, junto ao leme. «Vamos para Sagres, o Infante espera-nos!», exclama.
O fascínio pelo oceano nasceu connosco, povo de beira-água e beira-mistério, irreversivelmente condicionado por ele na maneira de pensar, de estar, de imaginar, de amar.
Antes de navegarmos, isto é, de iniciarmos os Descobrimentos, tínhamo-nos já feito, no período do megalítico, aos frios do Norte (Grã-Bretanha) e às amenidades do Sul (Mediterrâneo).
Com o tempo, o Norte tornou-se-nos, porém, o Sul. Foi, com efeito, para baixo, para o centro dos mapas, que nos dirigimos: Tejo e Algarve, Magrebe e Equador, Oriente e Ocidente.
Cedo percebemos que as estradas romanas, vindas da Europa, terminavam na nossa costa; que o Atlântico era o seu limite, a Lusitânia o seu finis teme.
Foi então que surgiu o sonho de as continuarmos sobre as águas, de outra maneira. Assim fizemos através de madeiros e cordas em vez de macadames e lajes, de velas e linhos em vez de quadrigas e cavalos.
Assim chegámos (depois de aprender a bolinar, isto é, a navegar contra o vento) a outros continentes, a outras civilizações. Facto que constituiu o acontecimento cultural mais importante (porque fixado pela escrita) da história da humanidade.
Caldeados pelos que tocámos, pelos que nos tocaram — celtas, suevos, visigodos, fenícios, cartagineses, romanos, mouros, hebreus —, deixámos de caber num imaginário, num sonho, numa religião, numa filosofia, num território, num continente, numa raça, numa família, num sexo só.
«Na mistura de gente e de vegetação, assim como na variedade das combinações e matizes regionais, reside o segredo da unificação portuguesa», sublinha Orlando Ribeiro.
O idealismo greco-latino, o Direito romano, a audácia nórdica, o messianismo hebraico, o fatalismo islâmico, o conhecimento templário (a que se juntaram a languidez africana, o requebro brasileiro, a sabedoria oriental) deram-nos tonalidades irrepetíveis.
Estudos recentes revelaram que «os portugueses têm sequências de genes únicos devido à proliferação de multicruzamentos rácicos».
A língua portuguesa universalizou-se porque se tornou idioma de viagens — viagens por oceanos e continentes, povos e culturas.
Aproveitando os contactos com os mundos onde desembarcou, acrescentou-se, miscigenou-se. Ontem como hoje.
A escrita, a criatividade, o convívio são valores que levámos aos outros e que, desfeitos os impérios, perdidos os comércios, as fazendas, as fábricas, as frotas, persistem vivos e superiores.
Dom Dinis, o maior chefe de Estado de sempre, abriu o país à poesia, à imaginação, ao comunalismo (o culto do Espírito Santo surge consigo e com D. Isabel), convocando-o para fases superiores da existência.
No seu reinado, o português é fixado como língua nacional e Coimbra como cidade universitária; a Ordem de Cristo sucede à dos Templários (maneira de a resguardar das interferências papais), o que se tornou decisivo para o êxito das navegações.
O mais profundo e representativo do espírito de um povo está na obra dos seus escritores. «Se não houvesse uma língua portuguesa, não haveria uma alma portuguesa. E se esta não existisse, teríamos de evoluir», lembra Teixeira de Pascoaes, «conforme as almas estranhas, teríamos de nos fundir nessa massa amorfa de Europa; mas a alma portuguesa existe, como existe a língua portuguesa.»
A língua portuguesa despontou no século IX na Lusitânia e na Galiza, daí a sua consanguinidade com o galego. As conquistas alargaram-na depois: no Sul, às populações moçárabes (que falavam o romanço) e africanas; no Oriente, às indianas e indonésias; no Ocidente, às índias e brasileiras.
Foi esse o idioma que os fundadores do império exportaram e impuseram como língua franca - os holandeses, por exemplo, tiveram de a aprender quando se estabeleceram no Oriente.
A nossa escrita começou com o Cancioneiro da Ajuda, no século XIII; as primeiras gramáticas (de Fernão de Oliveira e de João de Barros) apareceram 300 anos depois, e o primeiro dicionário (do francês Rafael Bluteau), cinco séculos mais tarde.
A literatura visava, numa primeira fase, a reprodução do oral, de histórias simples, de relatos concretos, mesmo que imaginados; numa segunda fase, passa a captar a subjectividade do narrado e do narrador, a introduzir a metáfora, a alterar a relação dos significados. Tal como acontece com a arquitectura, a música, as artes plásticas, o teatro.
A consciência nacional formou-se por oposição aos mouros e a Castela, e por atracção ao Atlântico e ao Mediterrâneo.
«Portugal é um oásis, uma ilha, rodeado de um lado pelo deserto, do outro pelo oceano. Nós, seus habitantes, ficámos prisioneiros, oscilando entre a aventura fora e a passividade dentro, ou vivendo a aventura pela imaginação sem sair do mesmo lugar. Daí o sentirmo-nos entre o4 orgulhosamente sós” e o “Europa connosco”. Daí o inferiorizarmo-nos, o considerarmo-nos ínfimos, sem cultura própria perante o estrangeiro, ou o desafiarmos o mundo para o conduzir. Daí a melancolia do estar onde não se está, de viver num sítio e num tempo com o corpo, e noutro com a imaginação», sublinha António José Saraiva.
A História afastou-nos da Europa e a Geografia manteve-nos longe dela, sem que nos sintamos pertença de outra parte do mundo.
A expansão portuguesa assentou em fortalezas e cidades erguidas na costa, junto ao estuário de rios e portos, em sistema de vasos comunicantes cujo sangue é o mar.
Passou, graças a ela, expansão, a saber-se mais num ano pelos portugueses do que em cem pelos romanos. «Rústicos pilotos, sem mais letras especulativas do que uma doutrina praticada no convés de um navio, (...) reprovam as távoas do ilustre Ptolomeu, como se estudassem em alguma universidade, e ele não», comentava o escritor João de Barros.
Os portugueses tornaram-se «os olhos e os ouvidos do Mundo na Europa, os comunicadores intercivilizacionais por excelência da cristandade», enuncia Luis Filipe Barreto. «A cultura portuguesa dos séculos XV e XVI é uma das culturas europeias mais criativas e vanguardistas. Portugal é, então, figura activa na criação espiritual da Europa. Portugal foi tanto mais Europa quanto mundo.»
A epopeia dos Descobrimentos ficou-nos, porém, «mais fonte de sacrifício do que proveito», adverte Teófilo Braga: «Em vez do livro do Deve e Haver que puderam escrever holandeses, ingleses, franceses, compusemos a História Trágico-Marítima. Houve sempre em nós o predomínio da fantasia sobre o cálculo, do sentimento sobre a razão, do instinto desenfreado sobre a moderação sensata.»
A vocação dos que difundiram a língua portuguesa não era a de serem colonialistas, era a de serem convivencialistas; não era a de submeterem povos, era a de navegarem por povos.
Enquanto tivemos impérios, tivemos de ser imperialistas, máscara que nos deformou, envenenou. O descer do pano, a 25 de Abril, devolveu-nos o rosto, fez-nos reencontrar sob outra luz, outro afecto.
No período vivido a seguir à descolonização, foi pela língua que o novo Portugal se religou à nova Africa. A semelhança do que havia realizado o Brasil, os cinco novos países reapropriaram-se da língua do ex-colonizador e assumiram-na «com toda a dignidade e naturalidade, privilegiando-a, difundindo-a», lembra o escritor Manuel Ferreira, «dando-lhe um estatuto nobre». Interiorizaram-na, tornando-a sua - tão sua que a alteraram, a adaptaram ao universo nacional e regional de cada um.
A língua portuguesa deixou de ser portuguesa para ser dos que a falam, escrevem, viajam. Os Estados saídos das ex-colónias encontram na literatura a grande afirmação da sua identidade. Algo de semelhante haviam já feito, aliás, quando na fase da luta pela emancipação utilizaram a poesia (em português) como arma de combate.
«A nossa é, provavelmente, a língua mais viva da Europa por causa do processo com que está a ser retrabalhada. O que acontece nas ex-colónias não aconteceu nas ex-colónias inglesas ou francesas», especifica Mia Couto.
O português está a evoluir, nos novos Estados, de língua oficial para língua materna; a tendência dos seus povos é tornarem-se, com o tempo, bilingues, tomando o português como idioma de cultura, de unidade, e o inglês, de contactos, de aberturas internacionais.
Garcia de Resende exortava, antes de Castanheda e João de Barros o terem feito, os nossos poetas a relatarem a epopeia da navegação. Um dos poemas mais notáveis sobre a saudade provocada pela viagem é, então, escrito por João Roiz de Castel-Branco:
«Senhora, partem tão tristes
meus olhos por vós, meu bem,
que nunca tão tristes vistes
outros nenhuns por ninguém.»
A distância, a ausência ganham, entre os embarcados, dimensões indizíveis:
«Neste negro navegar,
Grandes agonias sinto
Em largas coisas passar
Sou acerca de dobrar
Com tormentas meu tormento», canta Alvaro de Brito.
«Somos filhos dos sonhos que os nossos viajantes sonharam e dos mortos que neles morreram», observa Natércia Freire. «A nossa poesia lírica elevou-se à altura de modelo para outros povos.»
Povo mais de sombras do que de luz, de lua do que de sol, de errância do que de imobilismo, o português fez da viagem uma busca (inacabada) de si próprio.
Nela, viagem, encontramos pulsões que nos apaziguam da morte, nos abrem à criatividade, à afectuosidade. Por isso cultivamos a navegação, a poesia, o saudosismo, o messianismo, o fatalismo, por isso nos lavamos em lágrimas, deleitamos em desgraças, adiamos em esperas.
Fomos com Vasco da Gama, «não para descobrir o caminho marítimo para a índia, mas», lembra Agostinho da Silva, «para descobrir o caminho marítimo para a Ilha dos Amores». Como a não achámos (só Luís Vaz a encontrou), suspendemo-nos até hoje.
As naus tornaram-se-nos um lar que não possuíamos, um segundo corpo, um berço movendo-se por nós sem cansaço, sem frio.
Se bem cumpridas as rotas e aparelhados os navios, as viagens eram inesquecíveis - as festas a bordo, os autos, as touradas, o sulco dos peixes, o perfume das rebentações, os banhos de mar, o lançar âncora nas enseadas, o desembarque, o deambular pelos mercados, pelas tabernas, pelas paixões, isso enchia, justificava a vida.
A navegação envelhecia, porém, os que se lhe entregavam. Corroía-os de reumatismo e nostalgia; aos quarenta anos um marinheiro estava acabado, os grandes naufrágios, tão inexplicáveis uns, tão previsíveis outros, davam-se com tripulações de meia-idade. As pernas, os sentimentos cedo ganhavam chumbo, puxavam cada vez com mais densidade para baixo, para baixo do oceano, do visível.
O que era repouso tornava-se, então, abismo. Desmesura. O reverso da medalha emergia em tragédias marítimas de horror incontrolável.
As vagas, o pânico, o alijar a carga, o bombear da água, o naufrágio, o assalto às baleeiras, a fuga do navio, o repelir quem estava a mais, o estrebuchar dos afogados, homens a atirar outros fora. Horas depois só havia silêncio, cansaço, bocados de cadáveres, de alucinações. Fazia-se a contagem da água potável, da carne salgada, dos biscoitos, dos sobreviventes — e dos que, entre eles, teriam ainda de ser eliminados.
Baixava, depois, o terror de tirar vidas à sorte, de ouvir os escolhidos suplicarem que os matassem antes de os abandonarem, um irmão a implorar a um irmão que o trespassasse, um filho a oferecer-se à morte em lugar do pai.
Improvisavam-se velas e lemes, as rações ficavam cada vez mais escassas, a sede cada vez mais abrasadora. O caminho do Inferno podia ser assim, senda de lâminas a reflectir a luz até à cegueira, até ao delírio.
Os que chegavam a terra sofriam depois indizíveis asperezas, inclemências, doenças, fomes, assaltos, ataques de animais selvagens e de tribos hostis (que os escravizavam), até à morte ou à salvação.
Dezenas de naus desmantelavam-se na carreira das índias. Falta de reparações, calafetação deficiente, madeiras apodrecidas, cargas excessivas (especiarias, essências, panos, móveis), imprudência, ambição transformaram as viagens do Oriente em rotas de horror.
A tragédia germinava na alma das pessoas antes de rebentar nas voltas do destino – e na alma das pessoas só havia, relatavam sobreviventes, cobiça, arrogância. Elas próprias preparavam, com a sua cegueira, a catástrofe.
O Império parecia querer suicidar-se antes de se desmoronar. Se não retrocedem a tempo, os colonizadores costumam, mostra-o a História, acabar colonizados — e expulsos.
O destino de Portugal tem-nos sido, ao longo dos tempos, uma obsessão permanente. Em poucos povos se verifica tão contraditório, tão persistente e fantasmático fenómeno.
As visões catastrofistas e míticas, de negação e exultação, alternam pendularmente, renovando-se, radicalizando-se, fendendo-se sem cessar ao longo das gerações.
Costumam mesmo, no dobrar dos séculos, explodir em crispações de profunda perturbação. Foi assim no XVI, no XIX, no XX; foi assim com Alcácer-Quibir e a perda da independência, com o Ultimato inglês e a humilhação nacional; foi assim com o fim do Império e a entrada na Comunidade Europeia.
Os grandes criadores, sobretudo os grandes poetas, oscilam entre a exacerbação mítica, grandiosa de Portugal e o seu oposto. O sentimento do desmesurado, na descrença e no enaltecimento, na decadência e na ousadia, deu à nossa cultura iluminações cénicas ímpares.
«O pessimismo que floresce no nosso país como uma venenosa árvore de morte não é um sinal de decadência degenerativa, de esgotamento agónico. É um sintoma», observa Manuel Laranjeira, «de que estamos a atravessar uma hora decisiva para os nossos destinos como povo. Há ainda alma para refazer todo um Portugal novo.»
Dividimo-nos entre o desdém pela Pátria («Mátria» lhe chamou Padre António Vieira, «Frátria» a apelidou Natália Correia) e a paixão por ela.
«Há algo de inacabado, amputado na nossa cultura», especifica António José Saraiva, «uma espécie de infância para além do seu termo. Foi isso que nos levou, agora, à procura de outro pai além-Pirenéus, na União Europeia. Resta saber se ela consegue desempenhar tal função num povo que está visceralmente fora da mentalidade ocidental.»
Um povo (um indivíduo) que pensa mal de si acaba por tornar-se naquilo que pensa. «A costumada negligência dos valores culturais enfraqueceu-nos a vontade», avisava Camões. A nossa tragédia reside aí, no fascínio pelo que nos é alheio, na autofagia pelo que nos é próprio.
A maledicência, a frustração, a inveja, a velhacaria, a crueldade são-nos venenos dissolventes. «Há quem se sinta bem no mal e mal no bem!», exclamava Cunha Rego.
Nem sempre foi, porém, assim. Antes das navegações, quando D. Pedro se voltou para a Europa (que percorreu pormenorizadamente) e D. Henrique para o oceano (que mandou percorrer exaustivamente), Portugal era um território quase próspero.
A paz generalizara-se. A agricultura, o comércio, os ofícios, as artes desenvolviam-se harmoniosamente. A produção, em quantidade e qualidade, satisfazia as necessidades internas e abria-se, com êxito, às exportações. Zurara entusiasmava-se: «Este é o maior e mais bem-aventurado reino que há no mundo. Temos entre nós todas as boas coisas que um reino abastado deve ter.»
Foi então que Portugal se derramou. As sementes do colonialismo e do esclavagismo irromperam-nos. Benzidos pelos interesses do Vaticano e da Coroa, o tráfico, a pilhagem, o negreirismo, a violência, a corrupção depressa se espalharam, levados no bojo das nossas caravelas e no egoísmo da nossa cupidez.
A terra é trocada pelo mar, os mouros pelos negros, as lanças pelos mapas, a honradez dos cavaleiros pela ambiguidade dos comerciantes.
O ludíbrio torna-se-nos uma arte. A falsificação das cartas de marear (só um grupo restrito detém a chave da sua leitura) permite manter insondáveis os segredos das navegações.
As naus avançam. Encontram ilhas, povoam enseadas, erguem padrões, apuram conhecimentos, desfazem lendas. Arrecadam matérias, convertem gentios.
Se a princípio os marinheiros têm de ser recrutados à força (escolhem-se os que não sabem nadar para não fugirem de bordo), depois de se dobrar o Cabo Não todos querem partir — é mais aliciante ir recostado num convés, a balouçar a perna, do que andar de enxada na mão a arrotear o campo.
Cronistas maravilham-se: um pôr-do-sol, um fulgor de petisco, um avistar de terra, um corpo nu justificam uma viagem. Tudo atrai e empolga uns, tudo repele e desanima outros.
A arte manuelina será a que mais profundamente, originalmente reflecte, depois da poesia, os Descobrimentos. Os Jerónimos, o Convento de Cristo em Tomar, a Torre de Belém fizeram se referências universais.
«O Manuelino apareceu como expressão plástica relacionada com o ambiente e clima de euforia que desfrutámos na época das nossas conquistas», sublinha o arquitecto Mário de Oliveira. «Passou a ser estilo quando se libertou das influências estrangeiras, sobretudo espanholas. As viagens pelo ultramar vincaram ainda mais a personalidade artística dos portugueses, os quais têm, através dos tempos, marcado de forma muito peculiar a sua profunda sensibilidade.»
A cerâmica e a ourivesaria foram igualmente seduzidas pelo maravilhoso ultramarino. As de quinhentos revelam-se, então, de uma riqueza, de uma variedade incomum.
O primeiro pele-vermelha que surgiu na pintura portuguesa (e talvez europeia) encontra-se na Sé de Viseu, num retábulo de Vasco Fernandes. Nele, o mago Baltasar não é um preto, é um índio.
Como sucedeu com a arquitectura, a música só começou a ser portuguesa depois das Descobertas. Vindo do Brasil, António José da Silva, o Judeu, introduziu (através das suas peças de teatro) a ópera cantada em português — antes era-o em italiano.
Para saber quem somos, «para ter por nós o respeito que precisamos, temos de saber quem fomos», diz Teresa Rita Lopes. «O traço mais vincado de nós reside na crença de que a vida é morte, quase sempre acompanhada pela esperança de que se há-de ressuscitar um dia. Apetece dizer que nos sentimos habitantes do país da Bela Adormecida que, como ela, esperamos o beijo redentor.»
A nossa identidade não se dissolveu quando posta em contacto com a dos outros. Pelo contrário, enriqueceu-se, contagiou-se, contagiou. A miscigenação (de peles, de culturas, de afectos, de comércios, de trapaças) é-nos uma normalidade irreversível.
É nas periferias, sabemos, que surgem as inovações. O diferente emerge no isolado, não no massificado; o diferente conduz ao superior, o massificado, à indiferença e esta à desistência.
A nossa maior habilidade é, lembra Agostinho da Silva, a da capatazia, capatazes entre impérios e colónias, multinacionais e mercados de matéria-prima, entre mandantes e mandados.
Mais do que uma costela (a juntar à judaica, à visigoda, à árabe), temos a alma e o corpo africanos; somos, mesmo se a pele nos for clara, os olhos azuis e a cultura saxónica, mestiços.
O sangue, os comportamentos, os sentimentos, as posturas, os fatalismos, as manhas, as sensualidades, as transgressões são comuns, misturando-se-nos negócios e batalhas, domínios e vassalagens, escravaturas e paixões.
Somos povos de retalho, de conciliação; não gostamos de exclusões, mas de acrescentamentos. Ao «ou, ou», preferimos o «e, e»; somos lusitanos, e judeus, e árabes, e visigodos, e africanos, com alegria, com desvergonha no sê-lo.
«Nenhum povo europeu se mostrou tão capaz de enraizar a sua cultura em terras ultramarinas como o português», reflecte ainda António José Saraiva. «Perdemos, no entanto, todas as guerras defensivas travadas fora do território nacional.»
Na chamada Metrópole, a presença de novos falantes de português - negros, índios, orientais - generalizou-se a partir do século XV, tal como volta a generalizar-se agora.
Portugal reafirma-se, com efeito, um país crioulo. Significativamente, o mesmo fenómeno dá-se no início e no fim do ciclo colonial.
Lisboa e o país tornaram-se, desde então, negros, o que foi decisivo para a plasticidade da língua e das manifestações que a têm como matriz.
O modo como os escravos africanos da primeira geração falavam o português fez êxito no teatro musicado e na poesia satírica. Revistas, comédias, literatura de cordel, folhetos, fados, danças encontraram neles elementos inesgotáveis de revitalização.
«O último continente onde nos faltava desembarcar era a Europa», ironizava Agostinho da Silva. Apenas a conhecíamos a salto, apenas lhe íamos para estender a mão (nunca tivemos pudor nisso), para fugir às polícias (sempre ligeiros no fazê-lo), para ir ao biscate (no que nos revelámos destros), para marcar golos em campeonatos de futebol (o que conseguimos brilhantemente) e cortar metas em voltas de pedal.
Agora fazemo-lo de outra maneira, com outros modos. Somos já da família europeia, embora de segunda consanguinidade. Cremos nela para melhor atrairmos verbas, ajudas, fundos, subsídios; cremos nela mas sem fidelidade - que a nossa fidelidade vai para os continentes do além-mar.
Quando o país ficou alicerçado, fronteiras definidas, castelos erigidos (para nos defenderem dos invasores), pinhais extensos (para nos preservarem das areias da costa e da intolerância), no tempo de D. Dinis, os portugueses viraram-lhe as costas e foram à (des)ventura.
Forças muito negativas, sem castelos nem pinhais capazes de as suster, invadiram-nos depois. Inquisições, totalitarismos, sectarismos, hipocrisias sedimentaram-se, provocando a fuga, o exílio de tudo quanto era grande, generoso e transparente. Os mais jovens, mais ousados, mais independentes, mais inquietos tiveram de partir para não acabarem nas fogueiras dos novos Santos Ofícios, nas prisões das modernas polícias, nas prateleiras dos actuais desempregos.
A miséria, as perseguições, os cárceres, a mesquinhez inibiram gravemente os valores do convívio, as vibrações da originalidade. O país acentuou-se cais de debandadas.
Somos gente adoecida pelo oceano, pelos chamamentos dele. O apelo do mar, permanente, dolente, fez-se melopeia igual à que atravessava a copa dos pinhais. A sua imobilidade despertou a nossa errância - asa da poesia e da narrativa, da pintura e da estatuária, da música e da luminosidade.
Os oceanos tornaram-se-nos, juntamente com os bosques, os grandes espaços do sagrado que nos determinou, nos preservou.
Foram as suas águas e as suas madeiras que nos levaram ao exterior de nós; foi a criatividade do seu recolhimento que nos guiou ao interior de nós - do que de melhor existe em nós.
As navegações e a poesia mergulham no seu húmus, na sua penumbra. Os portugueses aprenderam a vibração das ondas no murmúrio das árvores, aprenderam a espera das revelações na ondulação das folhagens.
Nos oceanos há pomares invisíveis, revelam cronistas de naus. Muitos dos barcos que naufragaram, naufragaram quando os demandavam — em ilhas de sargaços, em montanhas de névoa.
Seres fantasmáticos povoam-nos com as suas lendas, as suas miragens, as suas poções, as suas seduções. Figuras míticas, centauros, sagitários, sereias, duendes ligam-nos ao indizível.
«A literatura é mais difícil de ser controlada pelos poderes do que a cultura audiovisual», adverte Vargas Llosa. «A escrita é a última trincheira da liberdade.»
O português revelou-se sempre um povo de sons, de ecos; nele o ouvido predomina sobre a vista - as reminiscências das águas, das distâncias são-lhe vibrações profundíssimas.
É pela poesia, pela narrativa, que a sua identidade melhor se projecta. «O imperialismo dos poetas dura e domina; o dos políticos passa e esquece, se o não lembrar o poeta que os cante», avisa Pessoa.
A lírica e a crónica constituem o grande travejamento da nossa literatura. Esta constitui o documento artístico mais profundo porque nela o homem desenvolveu a sua expressão mais avançada, mais duradoira.
Os povos atingem a maturidade quando são capazes de se recriar pela escrita. O nosso foi-o desde muito cedo.
A característica da grande literatura portuguesa, sublinhava Natália Correia, «é o movimento para o mistério. Para o sagrado, para o profético, para o cúmplice, para o inexplicável. Daí que ela tenha duas rotas: a da viagem para dentro de nós e a da viagem para fora de nós, realizadas ambas sob o signo da água».
Daí que os portugueses se dividam entre andarilhos e estáticos: entre os que edificaram mundos sem se mover (Infante D. Henrique, Salazar, Fernando Pessoa) e os que os construíram pela acção (Camões, Fernão Mendes Pinto, Padre António Vieira).
«A nossa grande Raça partirá em busca de uma índia nova, que não existe no espaço, em naus que são construídas “daquilo de que os sonhos são feitos”. E o seu verdadeiro e supremo destino, de que a obra dos navegadores foi o obscuro e carnal antearremedo, realizar-se-á divinamente», escreve Pessoa.
Estamos com saudade do maravilhoso, do pagão, da Ilha dos Amores. «Estamos com saudades», canta Manuel Alegre, «da peregrinação que chegou ao fim. Portugal é um País que se fez sempre para fora. Mas para fora só temos agora a Europa, e a Europa não é uma aventura comparável à de África ou da índia.»
E o poeta exorta:
«Dai-nos de novo a rosa e o compasso
A carta a bússola o roteiro a esfera.
Algures dentro de nós há outro espaço
Chegaremos ainda a outro lado
Lá onde só se espera
O inesperado.»
Uma língua «é o lugar donde se vê o Mundo», escreve Vergílio Ferreira. «Da minha língua vê-se o mar. Da minha língua ouve-se o seu rumor, como da de outros se ouvirá o da floresta ou o silêncio do deserto. Por isso a voz do mar foi a da nossa inquietação.»
Estamos a ser 250 milhões de falantes do português. Por ter sido língua de viagens, ele tornou-se a sexta mais falada (ultrapassou já a francesa) do mundo.
A sua vertente oceânica interiorizou-se na nossa criatividade, na nossa melancolia. Em todos os autores, em todas as gerações, em todas as épocas, em todas as artes, em todas as utopias, ela predomina como um húmus, um luar - um futuro.
Durante séculos, os viajantes tiveram nas cartas o seu grande meio de comunicação com os outros. Eram elas que davam cais às errâncias e faziam próximos os distantes.
Essas missivas revelam-se, na sua maioria, escritos muito expressivos sobre saudades, negócios, sofrimentos, paixões, ambições. Influenciaram vidas em todas as épocas, dilataram felicidades, precipitaram tragédias, desencadearam conflitos, mudaram destinos, provocaram suicídios, assassínios, guerras, exílios, heroísmos.
Graças a elas conhecemos hoje o outro lado dos feitos históricos, das descobertas, das epopeias, das navegações, das colonizações; os territórios íntimos da nossa errância ressaltam, nas suas páginas, como frescos de intensidade surpreendente.
A carta mais notável da nossa saga andarilha – considerada uma obra-prima da literatura universal — é a que Pero Vaz de Caminha escreveu (catorze folhas) ao Rei D. Manuel I a relatar o desembarque dos portugueses, sob o comando de Pedro Alvares Cabral, no Brasil.
Extasiado com o Novo Mundo, com os índios e a sua maneira de viver, com o clima e as suas riquezas naturais, o genial cronista redigiu um documento que assustou o mundo de então: o Paraíso existia na Terra.
Existiam, com efeito, povos a viver sem religiões monoteístas aterrorizantes, sem classes sociais dominadoras, sem unidades familiares convencionais, sem preconceitos sexuais castradores, sem escravatura, sem miséria, isto é, a viver em comunidades solidárias, libertárias, igualitárias.
A carta, censurada pelos poderosos da época (bispos e nobres) foi escondida, só sendo resgatada no século XVIII.
É um dos documentos mais subversores e luminosos do nosso património. Encontra-se hoje na Torre do Tombo, em Lisboa.
As narrativas de viagens constituem, na verdade, um dos pilares mais fascinantes da literatura portuguesa. Os relatos das navegações no mar e em terra, as crónicas, as cartas sobre descobertas, achamentos, batalhas, naufrágios formam acervos que nenhuma outra cultura tem, tão fantásticos, tão sofridos, como a nossa.
Devido à visão dos antigos monarcas portugueses, em cada caravela que deixava o Tejo ia um, às vezes mais do que um, escrivão ou assentador de factos e fastos.
Se muitos morreram nas viagens sem que se salvasse o narrador, outros sobreviveram. Camões, náufrago no Indico com, diz a lenda, o manuscrito d’Os Lusíadas, é um espantoso exemplo disso.
Fernão Mendes Pinto, andarilho de mares e reinos do Oriente, cronista, mercador, embaixador, escravo, soldado, missionário, tornou-se com Peregrinação um nome da literatura universal.
Graças aos legados desses homens, muitos dos quais anónimos, conhecemos o outro lado das descobertas e das conquistas, das epopeias e das evangelizações, o lado mais absurdo, mais exterminador do nosso colonialismo.
A História Trágico-Marítima, colectânea de relações de desastres navais, compilada no século XVIII por Bernardo Gomes de Brito - de que a do Naufrágio de Sepúlveda é a mais famosa —, atinge ressonâncias sinfónicas.
Nessa altura não havia nenhuma família em Portugal que não tivesse embarcado pelo menos um membro seu. O país inteiro emocionava-se ante a descrição das viagens, dos temporais, dos afundamentos, das vicissitudes dos náufragos, fome, sede, doenças, ataques de piratas e nativos, e feras, das caminhadas na costa, na selva, até à salvação ou à morte.
Esses escritos parecem scripts de filmes espantosos, com acção, com personagens, com suspense, com intriga, com pathos. A sua procura levava à impressão de várias edições, lidas em voz alta nas aldeias pelos párocos (os únicos letrados) em serões de emocionante comunitarismo.
Mais tarde darão lugar aos «romances marítimos», muito populares no século XIX, como Eugénio e A Nau da Viagem, de Francisco Bordalo, Folhetins de um Marinheiro, de João Carvalho Viana, Quadros Navais, de Pedro Celestino, Tragédia Marítima, de José Agostinho, ou Novelas Submarinas, de Augusto Branco.
«São equivalências, guardadas as devidas distâncias, a Jack London, Melville, Stevenson e Joseph Conrad», destaca João Palma Ferreira em Naufrágios, Viagens, Fantasias & Batalhas.
Africa, índia, China, Japão, Brasil foram espaços que, pela viagem e pela escrita, acrescentámos, nos acrescentaram.
João de Barros, Diogo do Couto, Gaspar Correia, Gaspar Barreiros, Padre Francisco Álvares, António Tenreiro, Frei Gaspar da Cruz, Frei Pantaleão de Aveiro são, no prodigioso século XVI, «tudo em nome de Deus e proveito dos Reinos», nomes de inesquecível referência.
Enquanto peregrinávamos, e naufragávamos, e transformávamos o planeta, os franceses, por exemplo, liam livros de viagens - e desdenhavam de nós.
A grande popularidade desses livros dá-se no século XVIII devido, sobretudo, ao trabalho de divulgação desenvolvido pelo abade Prévost que lançou, com grande êxito, a célebre Histoire Générale des Voyages.
O público passa a deliciar-se com o exotismo das paragens descritas, com os costumes, os vestuários, as comidas, as artes, os erotismos, as religiões; e a apaixonar-se pela emoção dos seus relatos, dos seus imprevistos, das suas grandes aventuras.
«O tempo e o espaço, que quase haviam sido suprimidos pelo ideal clássico, regressam, reintroduzindo aspectos maravilhosos que alimentam a imaginação e desvendam a diversidade humana», anota Castelo-Branco Chaves em Os livros de viagens em Portugal no século XVIII e a sua projecção europeia.
Diplomatas, militares, artistas, escritores, clérigos, negociantes lançam-se às rotas romantizadas. A vertigem do desconhecido torna-se uma espiral inesgotável.
Os portugueses vêem-se criticados pelos snobes europeus que os acusam de só viajarem para fora do velho continente. Para a barbárie.
Levada ao mundo pelos ibéricos, a Europa (foi o Direito romano, o ideário católico que seguiram nas caravelas) passaria então a desprezar os que, no dizer de Agostinho da Silva, lhes «haviam feito o frete» - que nunca foi pago.
De uma maneira geral, nós viajámos sempre para fora de nós. A demanda do centro do mundo, o Continente Venturoso, a Ilha Oculta, o Reino do Preste João, levou-nos para longe, ao contrário de outros que o buscaram (ao centro do mundo) no interior de si.
Iniciando as navegações oceânicas ao mesmo tempo que os portugueses, os chineses, por exemplo, só não chegaram ao Tejo porque, receosos de perder a sua identidade, retrocederam.
Povo em trânsito, o português peregrinou mais — emigrou, exilou-se, fugiu a salto, foi deportado, refractário — do que viajou.
O campanário da aldeia, a música da infância, está em todas as sete partidas, sete pecados de bastardia remíveis a saudade. Retornados (o retorno foi um fenómeno tão importante como o da partida), imitámos aqui o que amámos lá: o petisco de Africa, o perfume do Oriente, o requebro do Brasil estão em todos os interiores da nossa duplicidade, miscigenados que somos por coração, por ludíbrio.
Sempre fomos bons a escrever e a navegar - formas de vencer o desconhecido. Foram a escrita e a navegação, convém lembrá-lo, que universalizaram o nosso país.
«A primeira coisa em que Portugal se tornou notado na atenção da Europa foi por um fenómeno literário: a poesia dos Cancioneiros e as crónicas de cavalaria; a segunda foi, pouco depois, pelas navegações», lembra Fernando Pessoa.
O herói nacional português é um poeta andarilho, não um político centralizador. O branco do papel e das velas foi-nos, desde muito cedo, um destino.
O apelo da aventura vai, vencida a apatia que ultimamente nos horizontalizou, voltar a atravessar-nos. O turismo massificado não tem grandeza para quem foi ao mundo. A errância, o convívio continuam-nos vitais.
«Nós não mudámos, não degenerámos. As nossas características, virtudes, inquietações, defeitos mantêm-se os mesmos através dos séculos, simplesmente as nossas reacções é que variam conforme as circunstâncias históricas», lembra Jorge Dias em Estudos do Carácter Nacional Português. «No momento em que somos chamados», acrescenta, «a desempenhar qualquer papel importante, pomos em jogo todas as qualidades de acção, sacrifício, coragem, e cumprimos como poucos. Mas se nos chamam a desempenhar um papel medíocre, que não nos satisfaz a imaginação, esmorecemos, desistimos. Não sabemos viver sem sonho e sem glória.»
As cartas dos viajantes estrangeiros sobre nós revelam-se, por sua vez, exercícios de racismos não dissimulados. Diplomatas, militares, escritores, mercenários, comerciantes, aristocratas olham-nos com arrogância indisfarçável.
A Europa termina nos Pirenéus, decretam muitos. Para lá (para cá) deles é a «cafraria», a «repugnância». Os habitadores de tais terras continuavam, na sua visão, nas «trevas da ignorância, da promiscuidade», atolados «em piolhos, arrotos e preguiça».
Marquesas fugidas à Comuna escrevem, no Porto, missivas patéticas a dizer que «não conseguem dormir por causa dos percevejos»; intelectuais fugidos ao tédio amarguram-se em Sintra com a nossa fealdade: «Há poucos homens mais feios que os lisboetas», carteia um viajante francês, «eles revelam-se vingativos, ordinários e invejosos.»
«São excessivamente presumidos», avança Saussure: «Completamente ignorantes, gostam, no entanto, de se fazer passar por sabedores. Os homens são atarracados, desajeitados; o que lhes vai por dentro corresponde à desagradável aparência, principalmente em Lisboa, onde acumularam todos os vícios da alma e do corpo.»
Os portugueses não parecem, porém, muito incomodados. «Há seis meses que jornadeio por Espanha e Portugal, entre povos que, desprezando todos os outros», escreve Montesquieu, «só aos franceses dão a honra de odiar.»
Mais lúcido, Dumouriez justifica: «A nação portuguesa é a que menos reconhecimento deve aos viajantes estrangeiros. Todos à uma se comprazeram em desacreditá-la, e a Europa, informada por eles, passou a considerar qualquer português como um selvagem e um beócio.»
A reconstrução de Lisboa pelo Marquês, as invasões francesas e os técnicos ingleses farão, nos séculos seguintes, mudar um pouco a visão dos estranhos que nos atravessam. Grandes autores vêm, então, a Portugal, Beckford é um exemplo, e apaixonam-se por ele.
Maria Amália Vaz de Carvalho anotará que «uma das leituras mais curiosas que pode haver é a das cartas de viagens feitas por estrangeiros na nossa terra».
A nossa terra sensibilizará também (sobretudo a partir do século passado) Almeida Garrett, Raúl Brandão, Antero de Figueiredo, Fialho, Camilo, Oliveira Martins, Raúl Proença, Pascoaes, Teixeira Gomes, Nemésio que assumem, em correspondências enfatizadas, o gosto por ela.
Outros afirmam-no por outras terras: Ramalho pela Holanda, Eça pelo Egipto, Cortesão pela Itália, Jaime Brasil por Israel, Dantas por Espanha, João de Barros pela Grécia, Ferreira de Castro pelo Brasil, Henrique Galvão, Teixeira de Vasconcelos, Ivens e Capelo por Africa.
«Não sei de nacionalidade alguma», comenta a propósito Camilo Castelo Branco, «que possua um monumento literário desta espécie.»
A epistolografia portuguesa, bastante rica e original, «contribui para a compreensão profunda do nosso povo», destacava a professora Andrée Rocha, pois a carta, «como um raio X, ilumina órgãos vitais, ajuda-nos a vencer a opacidade dos seres».
Um dos seus cultores de maior projecção, D. Francisco Manuel de Melo, definia-a como «um mensageiro fiel que interpreta o nosso ânimo nos ausentes, manifestando-lhes o que queremos que eles saibam das nossas cousas, ou das que a eles lhes relevam».
A saúde (física e mental), o quotidiano (dinheiro, trabalho), o amor (paixões, ciúmes), a família (filhos, empregos), os agradecimentos (pesares, aniversários), as saudades (emigrados, mobilizados), as deslocações (turismo, negócios), as confidências (lamentações, segredos), o patriotismo (Portugal é a palavra que mais vezes figura em cartas), a morte (doenças, sofrimento) têm sido os temas principais nas cartas dos viajantes.
A correspondência dos escritores portugueses «lembra-me o inferno», de novo Andrée Rocha, «onde muitos estariam condenados aos conhecidos círculos dos maldizentes, dos luxuriosos, dos heréticos, dos rufiões, dos suicidas. Mas esse inferno tem, em muitos dos seus episódios, uma beleza singular - a da carta».
Por vezes escrevemos cartas mais para nós «do que para quem lê», anota Antero de Quental em bilhete (redigido a caminho dos Açores) a Jaime Batalha Reis.
«Não estou, como julgas, a escrever para a posteridade, quando te escrevo. As observações faço-as a mim mesmo, crê», confidencia Jorge de Sena a Mécia, quando noivos.
Fernão Mendes Pinto, D. Pedro, Camões, D. Francisco Manuel de Melo, Padre António Vieira, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo, Ramalho, Júlio Dinis, Oliveira Martins, Eça, Laranjeira, Agostinho da Silva são, entre outros viajantes, referências na grande epistolografia nacional.
«Não é por fé que acredito no que defendo, é por matemática», afirma Agostinho da Silva ao deixar, no regresso, o veleiro. «Precisamos de fazer da existência uma ficção para conseguirmos torná-la suportável.»
Enquanto o veleiro demanda o Sul, Agostinho refere com frequência o Infante: «Quando as coisas lhe corriam mal, isolava-se, em silêncio, virado para o oceano. Deixava de comer, de dormir. Até de rezar. Ninguém lhe dirigia palavra.»
O lado neurótico e indolente, que com tanto esforço escondia, dominava-o. O retrato do homem de chapelão negro que correu mundos e séculos, e enciclopédias, como sendo o seu, poderá não o ser. «Mas isso não tem importância», atalha Agostinho. «Nuno Gonçalves viu-o, no seu tríptico, assim, nós gostamos de sabê-lo assim.»
Rico, poderoso, corpulento, astuto, desapiedado, D. Henrique administra bem os bens que, em crescendo, lhe afluem, sobretudo ouro e escravos, das conquistas ultramarinas.
Na praia de Lagos gostava de presidir a cavalo ao desembarque e à partilha «dos cativos que desciam dos batéis como manadas de gado. Entre eles havia alguns de razoada brancura, formosos e apostos que muito lhe agradavam», dirá Oliveira Martins.
Filhos nunca quis ter. E contente estava com isso, pois aos homens de génio não quadram esposas nem proles, nem casamentos, nem fidelidades.
«Conseguem dessa maneira uma maior proximidade ao mistério, o mistério da vida e da morte, como foi o seu caso!», exclama Agostinho da Silva. Que, enigmático, acrescentará depois: «O fim de uma vida é o fim de uma viagem. Quando se morre, penso, entra-se num ponto de desaparecimento com a ideia de que, nesse desaparecimento, a consciência continua a existir.»
Horas depois, o veleiro deixa-nos na marina da partida. Não chegáramos, por aviso de borrasca imprevisível, a Sagres.
Agostinho da Silva diverte-se com a nossa frustração: «A imprevisibilidade condiciona tudo. Mas as pessoas esquecem-na e comportam-se como se o dia de amanhã fosse igual ao de hoje. Nunca é. O Infante sabia disso!»
O potente jipe inicia a descida, quase a pique, para o fundo da mina. Os faróis deixam ver as paredes do túnel a estreitar-se, a estreitar-nos progressivamente. O calor da profundidade, o negrume da terra sufocam.
De repente, o desfazer de uma curva, em cotovelo, abre-nos um mundo inimaginável.
O veículo detém-se. Estamos numa galeria descomunal, feericamente iluminada, onde máquinas gigantescas se movem entre filas de operários de fato-macaco, capacete, óculos, lanternas, auscultadores, fazendo lembrar uma estação de rotas interplanetárias.
Num recanto à esquerda, em bar com esplanada, guarda-sóis, cadeiras de descanso, canteiros de flores, música de Strauss, pequenos grupos bebericam cafés, risos e jornais.
Encontramo-nos a mais de mil metros de profundidade, numa mina alentejana de cobre e manganésio.
Da superfície da terra ao interior dela, isto é, do solo ao subsolo, outras viagens podem ser realizadas em surpreendentes roteiros, não de evasão mas de revelação.
Do lado de dentro de Portugal, de norte a sul, situa-se, quase imperceptível, um território fora do tempo.
À distância, sugere um istmo de península por achar, imergida em espaços apenas localizáveis pela imaginação. Não se conhece, entre nós, outro mapa assim.
As minas formam uma espécie de ilhas no corpo do país. Ilhas habitadas por gente de características muito próprias - em hábitos, sofrimentos, solidariedades, sonhos.
A terra exerce sobre os mineiros a mesma atracção que o mar sobre os pescadores. Há numa e noutro fenómenos indizíveis de paixão e ódio, de fim e recomeço, de vida e morte.
O imaginário que envolve o seu mundo cedo se nos dilatou, projectado por artes, por religiosidades, por celebrações, por costumes perturbadores.
Espaços de esventramentos, as minas lembram naves de catedrais, labirintos de duendes; tudo nelas é desconcertante: o silvo das máquinas, a mudez dos homens, os focos dos projectores, a dureza dos movimentos, a candura dos olhares, a lama das sendas, a reverberação dos metais, a amálgama dos estaleiros, a solidão dos operadores.
Os que as trabalham transformaram-se em seres sagitarianos, quase sobrenaturais, metade homens metade máquinas a perseguirem, secretos e alquímicos, os minérios emergidos pelas gigantescas erupções dos magmas iniciais.
A temperatura no seu interior é invulgarmente tépida. Não há Verão nem Inverno, quase que se pode falar em Primavera ou Outono permanentes.
Porque gostam do silêncio, os mineiros amam a música; porque se habituaram à solidão, procuram o convívio.
As galerias mais impressionantes que se encontram nas minas não são as dos túneis nem as das cavernas: são as dos olhares dos que trabalham nelas. De altiva fotogenia, eles pedem-nos, sobretudo, memória.
No interior da terra, as formas e os volumes, as cores e os espaços tornam-se mais espessos, como se a qualquer momento fossem fundir-se, impelidos por energias indetectáveis.
Os mineiros atravessam a vida elipticamente, isto é, deslizam pelos lugares, pelos tempos, como estrelas, como peixes — corpos de muitos sangues, inquietações, reminiscências, pavores.
Entre a realidade que lhes coube partilhar e a imaginação que lhes coube dilatar, vivem ardendo nas margens da maior imprevisibilidade.
Até há pouco tempo, as unidades mineiras continham, além dos suportes inerentes às suas funções, estruturas diversificadas de lazer e cultura, como clubes recreativos, bibliotecas, complexos de restauração e transporte, núcleos desportivos (alguns com equipas internacionais de hóquei), funcionando em comunidades autónomas.
A moderna tecnologia transformou, entretanto e por completo, a vida nas minas e a tarefa dos mineiros - que são cada vez mais estaleiros de ponta, as primeiras, e operários especializados, os segundos.
Quem se lhes dedica acaba por fazer seu o seu fantástico espaço subterrâneo, a que se moldam, se fundem para sempre.
As maiores riquezas do país não são oficialmente assumidas, o que leva alguns a dizer que ele, país, é pobre e, outros, inviável.
Um dos patrimónios nacionais mais relevantes é, no entanto, o que respeita às reservas mineiras da faixa piritosa (cerca de duzentos e cinquenta quilómetros) que une as bacias dos rios Sado e Guadalquivir.
Trata-se, pela sua excepcional qualidade, da maior reserva de metais básicos (prata, ouro, estanho, cobalto, cádmio, índio) da Europa. A maior parte de nós desconhece-lhes a existência.
À beira-mar e à beira-mistério, o nosso território viu-se, assim, duplamente dotado: por fora (por cima), com suavidade de paisagens; por dentro (por baixo), com concentrações de recursos excepcionais.
Portugal destaca-se no contexto mundial com uma área de subsolos invulgares. Os jazigos de Neves-Corvo (cobre, estanho, zinco, prata) são, por exemplo, ímpares no globo.
A parte ocidental da Ibéria foi o maior produtor de ouro da Antiguidade Clássica, prevendo se a existência de novos (ocultos) filões e, em grande profundidade, de lençóis de petróleo e gás natural.
A chegada aqui de tantos povos, durante tantos séculos, não se deveu apenas ao clima, à agricultura, à formosura indígenas — mas à riqueza do seu subsolo.
O rolar dos tempos fez rolar os recursos não renováveis, o que levou ao encerramento de muitas das estruturas montadas para a exploração mineira e, consequentemente, ao seu abandono. Abandono que atingiu populações e localidades de número considerável, com especial incidência a seguir ao boom provocado pela Segunda Guerra Mundial.
O volfrâmio (concentrado de volframite) foi-nos, pela sua altíssima qualidade, um bem precioso, avaramente disputado, comprado pela Alemanha de Hitler e pela Grã-Bretanha de Churchill.
A sua abundância, quase a céu-aberto, permitiria a Salazar afirmar a neutralidade ibérica no último conflito mundial -e encher os cofres do regime com barras de ouro suíço-nazis.
Um imaginário delirante emergiu-nos então. Fugaz, porém. Fugindo às pressões de Londres (no sentido de cancelar os fornecimentos de minérios a Berlim), o Governo de Lisboa cancelou todos os envios aos beligerantes, o que lançaria na miséria milhares de portugueses a viver (muitos a enriquecer) deles.
Pela sua qualidade, o nosso volfrâmio voltou a ser pretendido internacionalmente.
As suas minas são as segundas da Europa, tendo o seu volfrâmio o mais alto ponto de fusão (3 410°C) e a menor expansão térmica, com uma densidade invulgar. Tais características permitem-lhe formar a liga metálica mais dura que se conhece, aplicada sobretudo em filamentos de lâmpadas e perfuradoras de prospecção.
As reservas de Moncorvo constituem, por sua vez, um excepcional depósito de ferro à escala continental.
Dos chamados recursos não renováveis sobressaem ainda o ouro, o estanho, o cobre, o zinco, o carvão, o urânio e, pela sua excepcional pureza, a água — riquezas que, em vez de preservadas, estão a ser alienadas.
Sob a terra, «em nome da terra», os mineiros avançam ungidos de gestos sacerdotais. O silêncio das galerias, 500, 1000,1500 metros para baixo, cada vez mais para baixo, faz-se do silêncio impenetrável dos que as esventram.
Gente da penumbra e dos espaços fechados - não dos horizontes abertos, do sol, da lua, da chuva, do canto dos pássaros -, tornou-se gente gerada nas alquimias da transmutação do impuro em depurado, do informe em refinado.
Conciliam por isso todos os contraditórios: racionalismo e fatalismo, renúncia e prazer, acção e imobilismo, tragédia e farsa, feminino e masculino, novo e velho, crueldade e bondade, orgulho e desprendimento.
O futuro é-lhes frágil. Não apetece, junto de si, contar o tempo. Não apetece intervir. O tempo deixou-lhes melancolias irreversíveis. Há à sua volta, por vezes, uma atmosfera de fim.
Como em cenário mágico, as pessoas, os engenhos, as máquinas, as vagonetas, os guindastes, os motores, os elevadores fundem-se sem cadência nem relógio.
Razão de sobrevivência dos que as executam, as tarefas cumprem-se, decompõem-se obliquamente.
A paisagem não sorri.
O esgotamento dos filões e a falta de rendibilidade da sua exploração tem, entretanto, levado ao abandono de inúmeras minas.
Cerca de cento e setenta encontram-se actualmente encerradas, lembrando, na sua poalha arrefecida, aves de um cinzento-negro, ora baço ora orvalhado, na espera lenta, como Fénix, de renascimentos que podem surgir.
As populações não esquecem terem sido as minas a principal fonte de emprego, riqueza e progresso locais, pelo que pretendem que o seu testemunho seja ouvido — para perdurar. Viajar até elas é salvaguardar esse testemunho.
Comunicantes com as minas, as aldeias que se lhes ligam têm o seu quotidiano condicionado por elas, siamesas de corpo, de alma, de destino, fenecendo-se, revitalizando-se por igual, em paridade, em irreversibilidade. As ruínas de ambas entroncam na mesma matriz.
Imensa é a alma dos que se lhes entregam e lhes preservam continuadores, gerações e gerações imersas em cultos ensimesmados e movediços.
Uma mina abandonada é um dos espectáculos mais melancólicos do mundo.
«Se a nossa geologia fosse diferente, a nossa história também o seria», afirmam especialistas do sector.
Entra-se nas minas sem resguardo. A terra fuliginosa e densa, a aragem quente e acre, os escombros polidos e angulados, os declives fendidos e pedregosos ofertam-se e esquivam-se em reflexos indistintos.
A luz, macia, envolve sem agressividade. As minas não são territórios de sol, a sua claridade é de outro tipo, de alvas - a alva (nem noite nem dia) representa a passagem de uma dimensão a outra, a vida a desocultar-se das trevas, da morte.
Os interiores da terra tornaram-se espaços, como os dos oceanos, a viajar. Há mais vida neles do que se pensa, vida primordial, determinante de quase tudo o que existe no universo.
No exterior das minas abandonadas, os espectros, os detritos, as águas encheram as crateras, os musgos tomaram-nas, o vento desmantelou as edificações. Uma calma muito grande desceu depois. Agora apenas se ouvem gritos de pássaros e reflexos de ruídos ilocalizáveis.
Lendas antigas sobem no ar, evolam-se, os sonhos tornam-se possíveis. Os montes, as árvores, os êxtases, os lumes, as águas fazem-se frágeis, a todo o momento parecem volatilizar-se e dar origem a novos, outros montes, árvores, êxtases, lumes, águas.
Um ciclo fechou-se, outro, sem tempo previsível, abre-se. As espirais do tempo alinham-se. O futuro ganha-se — ou não se ganha.
O jipe sobe, agora, para a superfície. Em breve distinguimos, ao alto, uma lua a restituir-nos a crescente luminosidade alentejana.
A modorra invade o auto-pullman em que atravessamos Marrocos, a paisagem de areia e barro antecipando o deserto, os oásis onde pernoitaremos em cumprimento de itinerários flutuantes.
O silêncio tornou-se um véu sobre a planície de cactos e acampamentos nómadas. Depois virão montanhas encimadas de neve, praias tecidas de maresias, mercados extenuantes de cores, Fez, Marraquexe, Casablanca (onde Bogart e Ingrid nunca estiveram), Xexuão e Tétuão, cidades de sons vertiginosos, os jantares em tendas ovais, cuscuz, tâmaras, bolos de passas, chás de hortelã, as músicas, as danças, os véus, os ventres, as serpentes, os cristais, os cimitarras, os coros do Ramadão, os gestos das duplicidades, o calor, sempre ele, nas paisagens ressequidas, nos olhares húmidos.
Marrocos revela-se uma constelação deleitosa e carnívora, ora alimentando-se, ora sendo alimento dos que se lhe extasiam. É um território mítico no nosso imaginário, uma projecção de utopias jamais deixadas de sonhar.
Tudo para nós começou nele, por ele: descobertas, impérios, massacres, martírios, cativeiros, abandonos, colonizações — descolonizações.
Linhas de sangue, de paixão unem há séculos os dois países vertidos em espaços indecifráveis.
No Magrebe, os portugueses são apenas um povo que passou, água entre fios de corpos e adagas, como os romanos, os turcos, os espanhóis, os franceses, a sua estadia constitui um roteiro de explosões quase sempre funestas.
De certa maneira o Al Gharb marroquino é uma continuação do Al Gharb português, separados por escassas milhas de mar e crispação.
O povo, esse, ficou o mesmo, como mesmos são muitos dos costumes, dos sentimentos, dos comércios, do trigo, dos figos, do azeite.
Crianças tocam flauta à entrada de Ceuta. Chegámos numa manhã de neblina, vencidas as fronteiras onde marroquinos e espanhóis jogam, há mais de três séculos, lances de infindável persistência.
Arrebatada em 1415 por D. João I, a bela cidade ficaria, após a perda da nossa independência, nas mãos de Madrid, que a castelhanizou, mas não feriu. O seu escudo, por exemplo, continua igual (quinas, castelo, cores) ao de Lisboa; Santo António conserva trono e culto (as raparigas ciciam-lhe ainda cumplicidades) no Monte Hacho; Santo Amaro, a praia de desembarque dos portugueses, não mudou de nome.
Na catedral da virgem negra, os jovens da ínclita Geração foram armados cavaleiros sob a bênção do velho Nuno Alvares.
«O infante D. Henrique queimou ali as mãos, o que lhe causou», revela Azurara, «grande tristeza, receitando-lhe os companheiros que as metesse em mel. Isso não obstou a que lhe caísse a pele tocada pelo fogo.»
O altar da igreja de São Francisco, onde repousaram os despojos de D. Sebastião antes de irem para Lisboa, é reverenciado - o jovem rei esteve em Ceuta em 1574, durante dois meses, nela se fascinando por África.
Chegou a pensar-se que não queria voltar, de tão feliz ali se sentia, ali se relacionava. Só as ordens de imediato regresso enviadas por D. Catarina, a temível regente, o fizeram, a contra-gosto, voltar - se as não acatasse, ela própria iria buscá-lo, ameaçava, pelas orelhas.
Uma tempestade separou as naus à reentrada no Atlântico, atirando a de D. Sebastião para sul, perto da Madeira. Ao divisá-la, o jovem ciciou que, se vencesse, transferiria para aquela soberba ilha a sua corte — a «Corte do Norte», chamou-lhe Agustina Bessa-Luís.
Representantes da coroa marroquina acompanham a nossa delegação, que inclui a presença do herdeiro do trono português (D. Duarte Nuno), de historiadores (José Hermano Saraiva), de escritores (Clara Ferreira Alves, Guilherme de Melo), de jornalistas, de artistas plásticos, de cineastas, de dirigentes e sócios do Centro Nacional de Cultura, presidido por Helena Vaz da Silva.
Sob o sol acre, a melopeia dos guias, a insaciabilidade das máquinas, fotográficas ou de filmar, banalizam a viagem.
Para os mais velhos da África que estamos a percorrer, elas (câmaras) roubam, ao reterem o corpo, a alma; para os mais novos, são apenas uma fonte de moedas a subtrair com engenho. Todo o estrangeiro tem, aliás, por função ser objecto de ludíbrios - os que tentaram colonizar pelas armas, dominar pelo dinheiro, sabem-no.
Uma cadeia americana de turismo abandonou recentemente um hotel de cinco estrelas que acabara de construir por incapacidade de lidar com os empregados marroquinos; a sua «infidelidade» às normas, aos ritmos impostos faz, com frequência, quebrar as correntes do grande jet set internacional.
Este reino não cabe nas dimensões do estandardizado. O tempo que lhe cumpre agora viver não é de conquista, não é de peleja.
O seu jovem rei assume-se monarca dúplice, no fato e gravata, no manto e sandálias, no modernizar o país, no equilibrar as mentalidades, no defender as culturas, as religiões, os interesses da zona, hoje, como há meio milénio, na charneira do mundo.
Descendente de Maomé, provém de uma família originária do deserto, tendo sido o seu avô, Mohammed V (cujo túmulo dourado nos fascina em Rabat), a autonomizar Marrocos, após os domínios espanhol e francês.
«Filho, entrego-te este reino», disse na investidura de Hassan II, pai do actual monarca, «É a terra dos teus antepassados, o jardim onde os teus pulmões aprenderam a respirar a brisa, os teus olhos se embriagaram e os teus lábios aprenderam a repetir o canto dos pássaros. Filho, não te esqueças de que Deus dá o poder a quem quer pôr à prova. Os que o utilizam com injustiça, os que se transformam em tiranos e se incham de orgulho serão castigados.»
Marrocos passa por ilha liberal no oceano islâmico. Bebe-se álcool nos restaurantes, usa-se biquini nas piscinas, as minorias sexuais afirmam-se, as mulheres que são obrigadas a usar véu ascendem na sociedade.
Com 34 milhões de habitantes, o país vive da agricultura, da venda de fosfatos (primeiro produtor mundial), da pesca, da extracção mineira, dos têxteis, dos curtumes. Para Portugal exporta fosfatos, adubos, alfarroba, melaço e crustáceos; de Portugal importa madeiras, papel, óleo de soja e hidrocarbonetos.
Em Errachidia, cidade inventada do lado de lá do Atlas, a relva é de plástico e o vento do Sara entra pelas portas abertas do motel ainda em acabamento. O Marrocos do futuro estende-se para o interior, para as zonas de subsolo rico e paisagens exóticas.
As velhas urbes imperiais, as ruínas portuguesas e romanas (Roma ia buscar-lhe os leões para os circos), a magia dos desertos, a sensualidade dos mercados são «roteiros» de inigualável valia no turismo internacional.
Perdido o nosso império, Marrocos — nome que demos a Marraquexe (há um Marrocos no Algarve, uma Arzila em Coimbra, uma Meca em Alenquer) - revelou-se o território estrangeiro que mais visitamos. Mário Soares foi o primeiro Chefe de Estado português a fazê-lo depois de D. Sebastião.
Fechado o ciclo ultramarino, Portugal renovou-se, passando a ir afectuosamente às paragens onde esteve crispadamente. Foi isso que Helena Vaz da Silva percebeu e incentivou através do Centro Nacional de Cultura.
Todos os territórios de todos os continentes que comungámos foram revisitados, em viagens especiais, por sua iniciativa, num dos roteiros culturalmente mais fecundos do pós-25 de Abril.
Privilegiada de situação geográfica e de clima, Ceuta tornou-se ponto-chave das grandes rotas marítimas e terrestres de então. As especiarias, o ouro, as sedas, as peles, os metais cruzavam o Leste e o Oeste, o Sul e o Norte, o Alcorão e a Bíblia.
Meses antes do desembarque dos portugueses, numa manhã de Agosto, as sibilas profetizaram terríveis calamidades; a população deixou-se atemorizar e quando divisou, ao anoitecer, os invasores, espalhou tochas acesas pelos arredores para que a cidade parecesse maior.
A luta corpo a corpo, no dia seguinte, foi devastadora; horas depois a cidade caía e era selvaticamente saqueada.
Na grande mesquita, logo convertida, cantou-se um Te Deum solene e os príncipes receberam os graus.
O governo foi confiado a D. Pedro de Meneses, figura lendária nas histórias de ambos os reinos.
Nas suas relações pessoais, portugueses e mouros estabeleciam, quando as circunstâncias o possibilitavam, sentimentos de estima.
Escravas árabes tinham filhos de portugueses e cativos portugueses, de mulheres árabes; essas crianças aprendiam, a par da língua do pai, a da mãe (uma mistura das duas designada aljamia); aprendiam a cultura, e a religião, e os costumes, e a melancolia.
Os exércitos de ambos os lados contavam com combatentes oriundos de ambos os lados. Personalidades ilustres de Marrocos chegaram a viver como reféns largas temporadas na corte de Lisboa, caso de Mulei Mohammed, o príncipe de Fez.
As regras da boa fidalguia faziam sentir-se com frequência entre as batalhas - os vencidos felicitavam os vencedores; estes, aqueles.
«A competência entre o cristão e o mouro não é só de morte, senão também de virtudes da cavalaria», lembra Hernâni Cidade.
«Os que caem em minhas mãos os trato como cavaleiros e companheiros», afirma o almocadém de Jebel Habib. O alcaide de Xexuão, Mulei Abraem, e o capitão de Arzila, D. João Coutinho, tornaram-se mesmo amigos sinceros, o que não impediria o primeiro de arrasar Tanger.
«O conde D. João Coutinho criou-se de menino em Arzila, cresceu e fez-se homem, e depois capitão; pelejou e fez-nos dano, e nós a ele; contudo, a nossa vizinhança é já de há tanto tempo que há de nós amizades, ele a tem a nós e a nossos alcaides seus vizinhos», confidencia o monarca de Fez.
São vários os casos de portugueses que, depois de libertados, voltaram às terras onde estiveram cativos e, por paixão, aí se radicaram para sempre.
A suavidade, a pujança do Magrebe continuam intactas, como o fascínio exercido desde sempre nos portugueses. Estes vêem agora o país como turistas, retendo-lhe as lojas caleidoscópicas, os restaurantes, os monumentos, as cisternas, os palácios, os banhos públicos, os jardins interiores.
Alguns percorrem com os dedos a lousa das pedras que outros deles, em outras estadias, aqui a alinharam. Por toda a parte, flutuações da sua afectuosidade desprendem-se quentes e comovidas.
Os principais pontos do país estão imbuídos da nossa ausência, memória singularíssima de ousadias e infelicidades iniciadas, ambas, com a conquista de Ceuta e consubstanciadas depois em Tânger, no cativeiro de D. Fernando, nas tomadas de Alcácer-Ceguer, de Arzila, de Larache, de Santa Cruz, de Mogador, de Mazagão, na catástrofe de Alcácer, na desistência fatal, final.
Embora a administração dos postos lusitanos no Norte de Africa estivesse entregue a nobres, segundos filhos ou fidalgos em serviço militar, o grosso dos habitantes recrutava-se entre os condenados da metrópole, os fugidos à política, à justiça, à fome, à família, mata mouros (mortos por mouros) de ambição exacerbada.
A par dos fidalgos idos voluntariamente, seguiam, com efeito, mandados por castigo, criminosos, ladrões, réus em cumprimento de muitas penas, bem como mercenários indiferentes a ideais. «Três anos eram cumpridos continuadamente», determinava a Chancelaria Real, «sendo os dois primeiros à sua própria custa e o costumeiro à nossa.»
Caídos prisioneiros, de imediato repudiavam fé e pátria; soltos, de imediato repudiavam a conversão, assim se ajustando ao vaivém do destino, que ora os atirava para um lado, ora para outro.
Com os sarracenos passava-se o mesmo. «Em mil mouriscos não há um que seja fiel», desabafava, há quatrocentos anos, Luís de Loureiro, comandante de Mazagão.
O castigo que os mouros davam aos seus renegados era brutal: esfolavam-nos e assavam-nos em grandes fogueiras; o alcaide de Alcácer-Quibir soltava-lhes águias que, esfaimadas, logo os desfaziam.
Os leilões de escravos banalizavam-se. Nas épocas de fome (como a de 1521), os pais vendiam os filhos, os idosos ofereciam-se a si mesmos e os adultos suplicavam que os levassem para Portugal; só os mais jovens, rapazes e raparigas, tinham, se esbeltos, interessados.
O corpo sempre foi aqui uma arma. Assumido com ênfase, tornou-se de objecto (enganadoramente) submisso em objecto (exuberantemente) dominador - reverenciado por artistas e poetas de todo o Ocidente; corpo da terra, da aquosidade, dos odores, da luz, dos frutos, corpo-universo envolvente, devorador. Em Marrocos, tudo parece ofertar-se e negar se, num desejo arqueado pelas artes do regateio, pelas subtilezas da sedução/negação.
Gerador de vitalidades, o marroquino humilha-se aos poderosos que o visitam para melhor os perturbar; o tratamento que os estrangeiros recebem (mesmo nos hotéis de grande luxo) chega a ser insuportável de ambiguidade — a ambiguidade que, ao longo dos tempos, os fascinou, os derrotou.
Viver no Norte de África foi um exercício áspero para os portugueses. O quotidiano nas pequenas praças, separadas umas das outras por territórios hostis, estava permanentemente ameaçado.
Ataques, cercos, assaltos, raptos tornavam-se por vezes contínuos; a reacção dos árabes aos invasores incluía batalhas abertas e golpes de guerrilha, embustes e sequestros, numa estratégia de desgaste própria dos povos submetidos mas não submissos.
As fortalezas, erigidas sempre à beira do mar, não permitiam, pelas suas dimensões, resguardo suficiente para as necessidades de sobrevivência. Os sitiados tinham de sair regularmente para abastecer-se de géneros, arrotear terrenos, caçar, pescar. As culturas e os gados ficavam com frequência destruídos e as colunas de protecção dizimadas.
Algumas capitanias conseguiram, porém, submeter as populações limítrofes, obrigando-as a render-lhes tributo em cereais, carnes, pescado, tecidos; por vezes acontecia serem os próprios árabes a pedirem protecção aos portugueses em troca de serviços e bens.
De manhã as portas abriam-se. Em gáveas especiais, vigias montavam guarda. Qualquer anomalia fazia-as tocar o sino e sair os piquetes de socorro. Então todos, homens, escravos e animais, corriam para os fortins.
«Floresceu em Marrocos o teatro dos prisioneiros ou o teatro dos campos de concentração, por nem sempre os fidalgos», revela Mário Martins, «levarem vida de prisioneiros.»
Procissões, torneios, touradas, bailes multiplicavam-se, por sua vez, como forma de combater a insegurança. Às mulheres dos oficiais, idos do reino, juntavam-se as escravas convertidas e postas ao serviço da minúscula comunidade que encontrava nelas um elemento precioso.
As paixões e as aventuras amorosas atingiam especial vibração; o calor, a indolência, o isolamento, a sensualidade de Africa tornavam-nas agrilhoamentos de imprevisível tumultuosidade.
Para animar os feridos, os físicos mandavam pôr esbeltas raparigas (ou rapazes) mouras junto deles, ao mesmo tempo que lhes dobravam as rações. Os versejadores galantes multiplicavam-se em métricas nostálgicas, como as de Martinho da Silveira, capitão de Arzila:
«Estas guerras mortais são
Para quem nelas conquista.
Na mesa onde comemos,
Ninguém não diz o que sabe,
O que por siso sofremos
E tanto que não sabemos
Como já dentro nos cabe...»
Alguma desta poesia repercutia-se na Corte de Lisboa, onde provocava respostas condizentes:
«Vós lá quebrantais as raias
E as tranqueiras dos mouros
E nós cá corremos touros
E fazemos grandes maias.
Não curamos de azagaias
Nem de armas muito luzidas,
Mas gastamos nossas vidas
Em capas, gibões e saias.
(...)
Somos mais moles que duros,
Pola froxeza da terra», compunha João Roiz de Castel-Branco a Antão d’Afonseca, em Alcácer Ceguer.
Os males da alma (desgostos de amor, saudades da pátria) e os males do corpo (ferimentos de guerra, doenças do clima) afligiam quase todos os portugueses.
Para atalhar os primeiros, havia a presença de jovens locais; para os segundos, a de físicos, cirurgiões, barbeiros, boticários. Muitos deles ficaram famosos, caso de Mestre António, pai do cronista Bernardo Rodrigues, ou do mestre ferreiro de Arzila, Alvaro Dias, que ganhou notoriedade por aplicar unguentos feitos de «untos de mouros, lagartos e cobras, com que curava todas as doenças» (texto da época).
A história dos dois reinos é um jogo de empates recíprocos, de apelos contraditórios, fluxos e refluxos de barbárie, embustes, jocosidades, caleidoscópio de rotação alternada, ora vencendo um, ora vencendo outro, aprisionando-se, resgatando-se, matando-se, violando-se mutuamente, sucedendo-se como senhores e escravos, fiéis e infiéis, atacantes e atacados, heróis e párias em transmutação de sentimentos pastosos.
Invadida pelos árabes durante sete séculos, a Península expulsa-os e invade-os durante três, até que é por sua vez expulsa. As suas relações foram sempre de paixão.
Por Marrocos começou a dilatação do nosso corpo - e começou a sua perda. Camões perdeu uma vista, D. Fernando e D. Sebastião, e milhares de portugueses com eles, a vida; Portugal perdeu a independência.
Do Magrebe vieram, há quatrocentos anos, os primeiros retomados do império, militares, comerciantes, missionários, mulheres, crianças, escravos, golfados na metrópole após a entrega de Safim e Azamor, Arzila e Santa Cruz.
«Não tínhamos recursos para ficar ali, nem em gente nem em dinheiro. Portugal era», justificará António Sérgio, «obrigado, para o guarnecimento das fortalezas, a recrutar homens na Andaluzia. Tudo nos persuade de que D. João III, no abandono, fez o que não podia deixar de ser.»
A maior parte das evacuações foram realizadas «com tanta ordem e concerto», testemunha Frei Luís de Sousa, «que quando chegou a notícia aos mouros estava tudo feito, recolhidas nas embarcações a gente e artilharia e munições, cavalos e alfaias dos moradores».
Eram operações «de grande vulto», escreve em Castelos em Africa a historiadora Elaine Sanceau: «Haviam-se criado duas gerações de portugueses em Marrocos. Havia esposas, filhos e famílias a transferir, uma população civil a transplantar, bem como fortalezas a demolir.»
O papel das mulheres portuguesas foi ali decisivo, embora discreto, dada a mentalidade da época. Ultrapassando a subalternidade que as condicionava, muitas impuseram--se no imaginário local pelo seu heroísmo e generosidade. Prematuramente viúvas ou órfãs, conseguiram adaptar-se a condições duríssimas, como eram normalmente as da vida dentro das fortalezas.
Para vencer o medo, organizavam festas antes dos ataques, criando atmosferas de delirante invenção.
Na ausência dos comandantes eram elas as capitoas das guarnições («em nobreza e virtudes não ficavam de menos que os maridos», comenta Bernardo Rodrigues nos Anais de Arzila), como a condessa de Borba, combatente e enfermeira mítica em todo o Magrebe.
De uma maneira geral, os portugueses adaptaram-se bem à cozinha marroquina, forte em carnes magras e peixes doces, que uma infinidade de condimentos tornava irresistível. Célebre ficou, por gula inesgotável deles, Pantasileia, mulher de Francisco Ribeiro, almoxarife e vereador de Arzila.
«Na sua barriga metia todos os dias», conta Bernardo Rodrigues, «um alqueire de pão ou de bolos e outros excelentes manjares. Comeu tanto, sempre cada vez mais, que teve de vender tudo, bens, rebanhos, roupas, escravos e, por fim, a casa; tudo meteu na barriga até que, na miséria, Pantasileia sucumbiu morta de fome.»
A nossa presença tornou-se uma marca sobre muralhas e fortins (notável a sua arquitectura militar), torreões e cais, templos e cisternas (deslumbrante a de Mazagão), que tocamos hoje ao de leve, em deambulação descontínua.
Descolonizados ao descolonizarem, os portugueses renasceram dos escombros imperiais, cujo desabamento começou com o abandono das primeiras praças marroquinas.
Percorremos devagar os sulcos desses tempos, ignominiosos uns, ternos outros, percorremo-los e guardamo-los com emoção.
A angústia pela perda da independência fez os poetas/profetas captar a dor e transformá-la em alento. António Vieira, padre e escritor, Bandarra, sapateiro e vidente, sinalizam-no com genialidade — o sebastianismo faz-se revolução e religião.
Nos momentos de perigo ele regressa; escritores e videntes, outros, trazem-no de volta, o nevoeiro que o envolve sublima-se, a alma do país dilata-se e, por algum tempo, parece despertar.
«Que capacidade de esperança é esta, mesmo quando tudo ou quase tudo convida à frustração e ao desespero, que impele, sobretudo os poetas, a tomarem para si a vivência sebástica?», interroga Joel Serrão.
Para saber quem somos, para ter por nós o respeito de que precisamos, temos de saber quem fomos. «O traço mais vincado em nós», desvenda Teresa Rita Lopes, «reside na crença de que a vida é morte quase sempre acompanhada pela esperança de que se há-de ressuscitar um dia. Apetece dizer que nos sentimos habitantes do país da Bela Adormecida, que, como ela, esperamos o beijo redentor.»
O revivalismo, o patriotismo que se observam à direita e à esquerda não são sintomas de decrepitude, são-no de renovação. Tão importante é o que se realiza como o que se sonha, já que tudo o que se faz acto faz-se primeiro pensamento, utopia. Daí Pascoaes prevenir que «o sonho de um homem ou de um povo é mais interessante do que a sua actividade material».
«Há (...) bem no fundo deste povo um pecúlio enorme de inteligência e de resistência, de sobriedade e de bondade, tesoiro precioso, oculto há séculos em mina entulhada», sublinha Guerra Junqueiro.
Para sobreviver, os povos inventam mitos, no que o nosso tem sido surpreendente; a tal ponto que se deixou adiar por eles, paralisar neles.
Alcácer-Quibir não foi só a derrota, sendo-a; foi também a contracção da esperança para os séculos, apagados e vis, de espera por ciclos de outra fragrância.
O sebastianismo não é só, como afirmam alguns, a nossa perdição, é também a nossa renovação; não é só passado, é também futuro; não é só desistência, é também resistência; não é só desespero, é também fé; não é só cegueira, é também sabedoria.
Ao contrário do que dizem, os portugueses não são passadistas - como, se o passado lhes projecta sobretudo sofrimentos e misérias?
A sua crença não vai para ele, passado, vai para o sonho surgido nele, o sonho da Ilha dos Amores, do Reino do Espírito Santo, utopias que os impeliram para além dos limites.
A essência do nosso húmus é a saudade, saudade pelo maravilhoso, pelo futuro, pelo universal, pela liberdade, pelo indizível. «Temos de recuperar a cultura dos incultos porque eles estão», profetiza Natália Correia, «mais perto do mistério.»
Singulares, na verdade, os desígnios de um povo que pegou num adolescente de lua e o transfigurou em Messias de orvalho, fazendo da sua opacidade a sua luz; singulares, na verdade, os desígnios de um povo que pegou numa batalha de areia e a transfigurou numa nuvem de prata.
Dom Sebastião é mais do que o espectro de Alcácer, é o mito que fizemos dele, antes de ter nascido, depois de ter desaparecido; o príncipe destro e megalómano não passou de um corpo — o corpo da sagração.
Não há, hoje, nevoeiros nem areais em Alcácer, apenas planuras, terra castanha, trigo, oliveiras, toadas de homens na tarde, risos de criança no calor. Junto a um velho apeadeiro, num obelisco de cinco lajes em pirâmide, decifram-se, perdidas, as palavras: «Quando... 1938 1939...Universidade de Coimbra.»
É meio-dia. O sol provoca reverberações agudas que decompõem a paisagem, coam o som de Caterpillars a abrir estradas, o canto de pássaros, o chamamento às orações da tarde.
Ao lado, ergue-se o edifício de um antigo apeadeiro, carris, vagonetas, sinalizações, cais, tudo abandonado sob o letreiro «Oued el Makhazine», nome do rio que se enruga na distância.
É um lugar envolvente, este; a deslocação do espaço e o vazio no tempo tornam-no perturbador, o apelo à invenção dos mistérios, ao recolhimento das memórias surge irresistível.
Há quatrocentos anos, no dia 4 de Agosto, aconteceu nele Alcácer-Quibir, a batalha — o país perdia então a independência mas encontrava, na saudade dela, a respiração do mais oculto e visceral de si.
Alcácer-Quibir foi o Gólgota do sebastianismo, o sacrário da sua fé, a sepultura da sua ressurreição. O jovem rei, virgem de mulher e iluminado de misticismo, encontrou ali as lâminas lunares da imortalidade.
Os companheiros que o viram sucumbir não o testemunharam, porém; vê-lo morrer sem perecer era inimaginável.
«Ele caiu, morto o seu cavalo», afiançou um; outro, Luís de Brito, testemunhou-o «a andar, um pedaço desviado, já sem haver mouro que o seguisse».
Divinizado, D. Sebastião passaria a ser visto em praias de bruma e ilhas de névoa, que os seres de excepção, aos terceiros dias, ressuscitam e sobem aos céus, tamanha é a ânsia no seu maravilhoso.
Na noite seguinte, em Arzila, a bela cidade que nos deterá defronte ao torreão erguido pelos lusitanos, ouviu-se bater à porta da cerca e pedir guarida para el-rei; franqueada, ninguém identificou a figura que entrou pelas sombras, tomou comida e descanso, e desapareceu.
Os historiadores distanciam-se; só os poetas sabem qual poderia ser a chave das inexplicações.
O largo azul e branco de Arzila traz-nos imagens do Algarve, os refrescos nas esplanadas, os casacos de couro nas lojas, os pescadores a jogar às cartas, os barcos voltados na praia, os triciclos de gelados, os jovens em grupos.
O quebrar do oceano nas muralhas é uma música grave, solene como elas, muralhas, onde subiremos depois de terminada a cerimónia de descerramento de uma placa (feita pela escultora Clara Menéres), simbolizando em bronze as águas que juntaram e separaram, ontem, e religarão no futuro os dois povos.
«Na dura Arzila», chamou-lhe Camões, pernoitou D. Fernando em degredo para Fez e desembarcou D. Sebastião em marcha para Alcácer. A gigantesca esquadra que o trouxe, 800 embarcações, fundeou defronte.
De tão numeroso, o exército português teve de acampar fora da cidade. Durante duas semanas e meia, el-rei caçou e rezou aí. Ao décimo oitavo dia decidiu-se: avançaria por terra, pelo interior, em direcção a Quibir.
Fazemos esse percurso numa manhã de chuva. O autocarro perde-se na estrada de macadame. Não há sinalização.
As hostes portuguesas deslocam-se com dificuldade, à frente a artilharia e infantaria; atrás e nos flancos, a cavalaria. As rações escasseiam, a sede e o cansaço enlouquecem os cavalos carregados de armaduras.
De súbito, D. Sebastião dá, aterrado, pela falta da espada e do escudo de D. Afonso Henriques, esquecidos a bordo. Trazia-os como talismã. «Espero em Nosso Senhor que estas armas sempre vencedoras me dêem as vitórias que o glorioso rey com ellas alcançou dos mouros», afirma ao prior de Santa Cruz de Coimbra, onde as relíquias se encontravam.
Os dois afluentes do Rio Lucos, hoje secos, revelam-se obstáculo intransponível para a artilharia. O rei detém-se. A planura de Alcácer estende-se na sua frente; do lado de lá 80 mil cavaleiros e 40 mil peões mouros; do de cá, 2 mil cavaleiros e 18 mil peões cristãos.
O dia seguinte nasceu ainda mais pesado. O massacre, o maior da memória de Portugal, durou apenas duas horas. Para alguns sobreviventes, não chegou a ser uma batalha. Foi apenas isso, um massacre.
Manhã de 4 de Agosto de 1578, quarenta e cinco graus de temperatura. A Pátria portuguesa estava incompleta, necessitava de um messias, um crucificado, uma fé, um imaginário próprios.
Os Lusíadas estavam terminados e as profecias feitas. Luís Vaz, que D. Sebastião não autorizara a acompanhá-lo, inicia um novo poema épico intitulado «Sebastianeida» - que queimará ao saber da tragédia.
«Quebremos com Roma. Deitemos fora esse fardo de trevas e de desalento que há séculos pesa, mais ou menos, sobre as nossas inteligências e sobre as nossas decisões. (...)
Deixemo-nos de importar Deus. Se há que haver religião em nosso patriotismo, extraiamo-la desse mesmo patriotismo. Felizmente temo-la: o sebastianismo.», exorta Fernando Pessoa, para quem o mito sebástico é «um movimento religioso.» «No sentido simbólico, D. Sebastião é Portugal: Portugal que perdeu a sua grandeza com ele e que só voltará a tê-la com o seu regresso, regresso simbólico - em que não é absurdo confiar.»
No Museu de Miniaturas Militares de Tânger abre-se-nos uma reconstituição surpreendente de Alcácer-Quibir, a «Batalha dos Três Reis» (D. Sebastião, Mulei Mohammed e Abd el-Malek) que nela morreram — o primeiro sob golpes de adagas, o segundo (aliado dos portugueses) afogado ao fugir e o terceiro envenenado antes da peleja.
O cadáver de D. Sebastião veio, segundo uns, para Portugal e, segundo outros, desapareceu em Alcácer; o de Mohammed foi empalhado e passeado por todo o reino de Marrocos como castigo da sua traição; o de Malek seria colocado numa liteira para que, durante a luta, os árabes o julgassem vivo; depois da vitória foi sepultado no local.
No Arquivo Geral de Simancas existe um documento (há cópia na Biblioteca da Ajuda) que atesta a doação do corpo de D. Sebastião às autoridades portuguesas, dois meses depois da batalha, por influência de Filipe II de Espanha, a quem não interessava a propagação do mito.
Os restos mortais do jovem rei teriam sido, assim, desenterrados do cemitério de Sufiane e entregues, sem resgate, em Ceuta. Dois anos mais tarde, «as ossadas, num saco de linho atado com um pano preto» (testemunho da época), foram levadas para a Sicília e daí para o Algarve. A 20 de Dezembro de 1582 encontravam sepultura nos Jerónimos.
Readquirida a independência, o epitáfio inscrito no túmulo foi substituído por outro: «Se pudermos dar crédito à fama, aqui conservam-se os restos de D. Sebastião, morto nas plagas africanas, mas não digas que é falsa a opinião dos que acreditam que ele ainda é vivo, porque a glória lhe assegura a imortalidade.»
Obra do miniaturista Forbes, a reconstituição da batalha de Alcácer parece um presépio marcado por movimentações contraditórias de excessos e inesperados. Enquanto D. Sebastião morre e os soldados pelejam, na retaguarda, freiras, padres, mouros, nobres, criados entregam-se a cenas de explosivo erotismo, a morte e o amor igualados na mesma volúpia, no mesmo delírio.
Horas depois (a batalha foi antecipada para evitar que os militares portugueses desertassem devido ao calor), o campo estava «coberto de mortos, em tanto que dificultosamente se podia por ali entrar a cavalo, tanto o sangue que em partes me dava quase pelo artelho. E tudo gritos e lamentos, mortos por cima de vivos, e vivos de mortos, todos feitos pedaços, cristãos e mouros abraçados, chorando e morrendo, uns sobre a artilharia, tripas arrastando debaixo de cavalos e tudo muito mais do que já vos posso dizer porque aperta comigo a dor na lembrança do que passei», evoca Miguel Leitão de Andrada, sobrevivente de Alcácer-Quibir.
A não lógica deste empreendimento tem uma lógica terrível: tudo nele parece ter sido concebido e operado para o grande desastre.
Um puzzle de morte teria sido montado pelo jovem monarca. Todas as saídas fechadas, todos os erros garantidos. Tragado pela vertigem, não dando sequer ordens de comando ou instruções, mergulhou, veloz, no lago das adagas que o incendiaram de sangue.
«O rei de Portugal era ajudado por sete ou oito soldados de Tânger que jamais o abandonaram. Porque os fidalgos e os cavaleiros portugueses estavam tão fatigados que desmontavam para se pôr à sombra das carroças a fim de se refrescar. O rei não cessava de lutar a ponto de dizer-se que parecia um fogo celeste», descreve Luís Nieto, outro sobrevivente.
A encenação fez-se dantesca, os coches, as damas, os eclesiásticos, as crianças, os paramentos, as bandeiras, os cavaleiros, tudo soçobrava como uma nave de luxo a afundar-se em solenidade e desmesurado. A representação de um país morria com o seu rei, cujas ultimas palavras teriam sido de exaltação: «Chegada a hora, uma morte digna torna honrosa uma vida!»
A brisa traz-nos odores de frutos maduros e energias levitantes, o tempo está imóvel, uma redoma de cristal envolve, hoje, Alcácer-Quibir com o seu desajeitado obeliscozinho no qual, afiançam aqui, ficou o corpo trespassado do Rei-Menino; outro corpo, afiançam em Lisboa, está no Mosteiro dos Jerónimos, sepultado depois de uma fantasmática procissão de despojos e lutos.
Tanto faz, é bem possível que tivesse vários corpos terrenos, já que, incontáveis, os tinha sobrenaturais. Foi, aliás, o corpo que ele matou em Alcácer-Quibir. Incapaz de viver nele, com ele, corpo esbelto de formas, doce de pele, harmonioso de músculos, corpo de sentidos, de perturbações fracturantes ante as realidades, físicas, sexuais, familiares, políticas, machistas do seu tempo.
Crispado com as exigências do trono e do país, inferiorizado consigo próprio (impotência e doenças de vergonha), só a fuga para o irreal o poderia galvanizar.
«Vou pelo que devo a mim», escreveu em carta ao embaixador de Portugal no Vaticano.
«Sempre conservou o pudor virginal desde a primeira idade», relata Frei Manuel dos Santos. «Sendo de 9 anos passou pela câmara em que dava lição a infanta D. Maria, tia de seu pai, o príncipe D. João; e levantando-se o menino a fazer-lhe a devida cortesia, uma das damas que seguiam a infanta foi para ele abrindo os braços para o abraçar; porém, o menino, entendendo-a, se fez vermelho e estendendo as mãos a deteve e afastou de si; sempre andou a cavalo, mas nunca pelas ruas levantou os olhos a ver quem o via das janelas; andando justando em umas festas, feriu-se no pé direito, mas não consentiu que vissem a ferida mais que o físico-mor e o cirurgião-mor para o curar; aos moços fidalgos modestos agasalhava muito.»
Resgatar-se pelo heroísmo tornou-se para ele uma obsessão, tanto mais trágica quanto mais desmesurada.
O império que idealizou começaria em Africa, pelo Norte, fértil de trigo e metais, de espaços a decifrar, de corpos, de areias, de neblinas, de permissividades a desfrutar. Essa era a sua utopia. Não poderia haver meio-termo: ou a vitória total ou a derrota absoluta. Venceu à sua medida, porque o seu reino não era deste mundo.
Por isso estou aqui, desprotegido no que viajo, no que escrevo; a grandeza destas histórias vem do seu paganismo.
«Dom Sebastião era lindo até não poder mais!», exclama Agustina Bessa-Luís. «O poeta Aldana morreu com ele, cativado de tanta melancolia cavalheiresca quando a cavalaria era o crepúsculo. O sebastianismo é um sentimento difuso que protela mas não abdica, porque em nós a ausência supera a realidade.»
O sacrifício de D. Sebastião serviu, segundo Agostinho da Silva, «para que os turcos não se instalassem em Marrocos e daí passassem à Europa e a dominassem» e também «para que houvesse, com o fim dos impérios negros do Níger, escravos bastantes para a cultura do açúcar no Brasil». Serviu ainda «para haver a possibilidade de 1640, o golpe que nos soltou dos Filipes, permitindo que o Brasil continuasse uno e não lhe sucedesse o que aconteceu com a América espanhola, que se dividiu naquela poeira de Estados».
Imobiliza-nos, dias depois, em Fez: primeiro defronte do castelo, depois na porta de Bab Es-Seba. Outro jovem príncipe português, igualmente virgem de mulher e iluminado de mistério, pereceu ali em cativeiro de ignomínia. Traído pelos irmãos (sobretudo pelo infante D. Henrique), o seu martírio marca uma das páginas mais pungentes da nossa História.
Dom Fernando (tinha 33 anos e «um estranho ar de Cristo») era, como D. Sebastião, um suicida. Antes de partir para o Norte de Africa, preparou-se cuidadosamente para a morte. Fez testamento a favor da Igreja, comungou e entristeceu. Sabia que não iria voltar.
«Se eu morrer em esta armada onde agora vou... façam-se minhas exéquias de oferta e tochas e das outras coisas, assim como fariam a um simples cavaleiro e mais não... e se porventura o infante D. Henrique, meu irmão, quiser fazer alguma mais honra em minhas exéquias, peço-lhe por mercê que a despesa que em ele ordenar de fazer, que a mande despender por minha alma em missas cantar, ou remir cativos, ou em outras esmolas feitas a algumas boas pessoas que roguem a Deus por mim», determinou.
Como antes de Alcácer, os presságios voltaram a envolver os expedicionários - e a cumprir se. Para conseguir voltar, depois da derrota sofrida, D. Henrique comprometeu-se a entregar aos mouros a cidade de Ceuta deixando-lhes, como penhor, o irmão.
O incumprimento da palavra era frequente entre portugueses. Outro abandonado em Marrocos seria, por exemplo, o poeta D. António da Costa, vindo como embaixador em 1579 para negociar a libertação de prisioneiros de Alcácer-Quibir. Detido como garantia do resgate de oitenta fidalgos, morreu doze anos depois, abandonado por eles.
Tânger («estranha, fermosa e suave», como a descreveu D. Sebastião), onde D. Henrique e D. Fernando chegaram em 1437 idos de Ceuta e onde sofreram derrota esmagadora - a primeira dos portugueses em Africa -, é actualmente uma cidade marcada por colonialismos sucessivos (cartaginês, romano, turco, tunisino, português, inglês, francês, espanhol) que a inculcaram de expressivas diversidades.
A baía do seu porto, junto a Gibraltar, tornou-se lugar de referência e de cobiça desde que em 146 a.C. foi incluída nas rotas de passagem entre os dois mares.
Dela partiu, algemado, D. Fernando para o cativeiro de Fez. «Conduziram-no montado num sendeiro mui magro, desferrado», descreve Oliveira Martins, «com a sela rota e os arções despregados, o frei atado por tamiças e, na mão, uma vara, como Cristo. Assim o Infante ia, resignadamente mártir, caminhando no deserto, cercado por nove companheiros que o seguiam a pé. Eram o confessor e o capelão, o secretário e o camareiro, o físico e o aposentador, um reposteiro, um cozinheiro e um moço de forno. Eram os destroços do grande naufrágio de Tânger, varados na praia ardente de Fez, perdidos no seio da mourama hostil. Ao passarem nos povoados, as gentes vinham recebê-los com gritos alvoroçados de escárnio, soltando grandes vitupérios, cobrindo-lhes as faces de escarros, perseguindo-os com pedradas. E assim foram levados até chegarem a Fez. Defendiam-nos os guardas que os entregaram aos verdugos, para que tivesse começo o mais cruel e o mais santo dos martírios de que a nossa história reza.»
A libertação implorada por várias vezes aos irmãos, em termos patéticos, ficou sem resposta. Contam-nos em Fez que, nos primeiros tempos, mulheres iam, para afligir o prisioneiro, postar-se defronte da enxovia a relatar alto novas terríficas sobre Portugal, que perdera a independência, que o rei morrera, que desgraças e cataclismos sem fim haviam caído no país.
Contam-nos em Fez que a sua infelicidade se tornou tão grande que depressa apiedou a população. Sem contactos, sem esperança, o príncipe enlouqueceu devagar, imerso em misticismos delirantes. Tem visões. Vê a Virgem, o Arcanjo S. Miguel, S. João Evangelista, querubins descem até ele em nuvens de cores.
Uma colina de oliveiras, um rio ao fundo lembram (lembravam a D. Fernando) o Alentejo: a mesma vibração da luz, a mesma melancolia do entardecer. Na penumbra da cadeia, horas antes de expirar, o Infante sussurrou: «“E verdadeiramente me hei hoje de partir deste mundo.” Volveu a sua parte direita e disse: “Hora me deixai acabar.” E com estas palavras, sem outra mudança de gesto, deu a alma ao Senhor que o criou. Todo o tempo que viveu neste cárcere poucas vezes ceava. Continuamente rezava com ambos os joelhos em terra, e assim dormia. O seu trabalho não era ali outro senão rezar e depois catar-se dos piolhos e pulgas. Tanto continuavam as lágrimas correndo dos seus olhos que as lágrimas e o rosto por onde corriam eram assados, como se lhe pusessem fogo», descreve Frei João Álvaro, companheiro e confessor do príncipe de quem transportou, em 1443, as vísceras para Portugal.
A conquista de Arzila e Tânger, vinte e oito anos depois, permitiu a D. Afonso exigir a entrega dos despojos.
O guia ilumina-nos a enxovia, lajes Usas, argolas de ferro, onde D. Fernando morreu.
Os mouros penduraram o seu cadáver pelos pés, de cabeça para baixo, nas ameias dos muros, expondo-o à irrisão da plebe. Depois foi metido num ataúde e chumbado contra as muralhas no sítio onde estivera exposto.
Tânger, que foi tomada passivamente pelos portugueses após os habitantes a abandonarem, viu-se, duzentos e dezanove anos mais tarde, doada por Filipe I aos ingleses. O martírio do príncipe não teve qualquer utilidade. Dom Fernando e D. Sebastião marcam com as suas imolações o prólogo e o epílogo da nossa passagem por Marrocos.
A sonolência invade o autocarro em que rumamos para o interior montanhoso, começa a escurecer. Ouarzazate será nele paragem com os seus edifícios cor de terra, ameias, paredes castanhas, planícies, rostos, vegetação, aves, sons castanhos.
A música torna-se interminável na telefonia sempre aberta, é tempo de Ramadão, de jejuar todos os dias durante trinta, do nascer ao pôr-do-sol não é permitido alimento, nem bebida, nem festa, nem amor, as pessoas ficam silenciosas, fantasmas movendo-se lentamente, olhando os estranhos à distância até que a hora da chegada da noite soa pela rádio e pela TV e o país, de súbito, desperta.
O motorista encosta à berma, os guias, os ajudantes reclinam-se em direcção a Meca e saúdam Alá, que é grande e exige sacrifícios grandes.
Eles lhos prestam. Depois precipitam-se para os cestos da comida e riem, e falam alto, o universo à volta come e ri, e fala alto, a estrada enche-se de carrinhas, de camionetas paradas, a lua ilumina o imenso piquenique que se arrasta, renova. O que é proibido sob o sol explode sob as sombras, a rádio marca o novo dia, o novo jejum, a nova sonolência - Alá continua grande e exigente.
Na tarde que vai vir, o ar condicionado enguiçará e, quilómetros percorridos, o próprio veículo avariará. A orla do deserto é já deserto. Nómadas emergem à distância, dromedários e oásis saem da Bíblia, do cinema, fazem-se reais, o luxuoso pullman perde o orgulho - imaginamo-nos no lugar, no tempo dos (de nós) que ali nos antecederam.
A viagem faz-se roteiro fantasmático entre restos, sempre restos, muralhas, torreões, cisternas, violências. Os que nos falam querem negociar cristais, cobres, camisas, tapetes, deslumbres.
Sentamo-nos a tomar chá de hortelã e a comer bolos de canela sob a aragem que sobe do porto e percorre o terraço do hotel, num apaziguamento para o cansaço da viagem e da memória; exaustos somos delas, há séculos a partir e a voltar, e a andarilhar sem norte nem proveito — nem emenda.
Apesar de «nenhum povo europeu se ter mostrado como o português tão capaz de enraizar a sua cultura em terras ultramarinas», perdemos sempre «todas as guerras defensivas travadas fora do território nacional», anota António José Saraiva: «Não podemos, aliás, considerar-nos um povo guerreiro mas sim um povo obstinado. Sob a aparência da tolerância somos poderosamente assimiladores. A nossa superfície é mole, o caroço é duro.»
Não deixámos em Portugal uma pedra a assinalar a presença árabe. As catedrais católicas foram construídas com os cantos das mesquitas arrasadas; não deve chegar a um milhar o número de palavras árabes que ficou no nosso vocabulário.
Houve como que «uma vontade persistente de apagar a sua presença», ainda António José Saraiva. «A relação de portugueses e árabes foi exterminada da zona de consciência, mas continuou a processar-se fora dela, invisível.»
Até porque «o moçárabe foi uma das traves mestras da formação da nossa nacionalidade», lembra Jaime Cortesão: «O rápido despertar do povo português para o seu género de vida típico - o comércio marítimo - só pode explicar-se pela sua longa aprendizagem na escola árabe.»
Quando nos sentimos inferiorizados, e em Marrocos sentimos (as guerras que ali tecemos durante cento e setenta anos foram as mais sangrentas da nossa História), debandamos.
A decifração dos apelos escapa-se, o mistério adensa-se sempre que percorremos o país, viagens lentas, sonâmbulos sob o calor e o excesso — tudo tão familiar e tão estranho, tão esperado e tão desconcertante. Marrocos permanece uma paixão.
A velha Yamaha, do tempo colonial, solavanca por capins, levando-nos, ao condutor e a mim, a um campo de acolhimento no Norte do Caxito.
O sol recorta silhuetas de tanques apodrecidos, pontes desfeitas, estradas a reconstruir. Rolos de fumo sobem no ar quente, a paisagem faz-se deslumbrante, o dia glorioso.
A moto precede um camião com sacos de farinha, garrafas de óleo, pacotes de açúcar, alfaias agrícolas, fardos de roupa e medicamentos, necessários a centenas de deslocados em estado de extrema carência.
Revisito uma vez mais Angola e Moçambique. É contagiante ver os seus povos a reerguerem-se, a reorganizarem-se depois de treze anos de lutas de libertação e vinte de guerras civis.
Nascido na Tentativa (açucareira da família Lara, próximo de Luanda — que abandonei em criança e aonde agora regresso) —, deixo-me tomar pela emoção.
As vivendas da fazenda, a igreja, a fábrica, a farmácia, a alameda davam-lhe traços de elegância urbanística e de modernidade empresarial raros na época.
Encontro-a quase intacta: a sua solidez preservou-a das guerras mas não dos cubanos, que lhe esventraram o hospital e a fábrica, levando para Havana a maquinaria da sua existência.
Africa, a Africa da magia e do mistério, da sensualidade e do paganismo, está a reaparecer, a revitalizar-se.
Quimbandeiros (feiticeiros) anunciam que o tempo funesto foi castigo dos deuses por «não se ter dado à terra o corpo do Pai da Nação», Agostinho Neto - metido desde a morte num túmulo de ferro, foguetão à espera da partida final.
A paz tornou-se em Angola e Moçambique uma palavra macia, um fruto frágil e doce. Muitos têm medo ainda de a pronunciar, de a partir. Outros retêm-na, dilatando-a, colorindo a. A crença nela generaliza-se, faz-se tecido de esperança, objecto de mobilização.
A capacidade de renovação da terra permite essa crença: «Há cada vez menos desconfiança entre nós e mais vontade de aprofundar o processo democrático», afirma Joaquim Chissano, ex-Presidente de Moçambique.
Há quatro décadas, África cortou as vias do desenvolvimento colonialista; depois, as do desenvolvimento socialista; a seguir, impôs as do ultraliberalismo.
Não há ainda nela estruturas sociais eficazes, nem opinião pública consolidada, nem justiça harmoniosa, nem democracia reconhecida.
Dominados por grupos poderosos - na política, nas Forças Armadas, na justiça, na economia, no comércio, na indústria, na informação, no contrabando (alguns detentores de exércitos e territórios próprios) -, os seus Estados imergiram numa nova Idade Média, como acontece, aliás, na Europa do Sul.
Revezes, confiscos, misérias, assaltos tornaram-se-lhes uma constante. O seu universo é de ludíbrios e crueldades, do lado dos poderosos, de desespero e náusea, do lado dos excluídos. O aviltamento humano fez-se «hecatômbico».
Os dirigentes dos movimentos de libertação não tinham, quando chegaram ao poder em 1975, noção do que reencontravam. Apenas conheciam, e mal na maior parte dos casos, as zonas onde haviam nascido e combatido.
A sofisticação atingida pelas sociedades de Luanda e Lourenço Marques escapava-lhes por completo, tendo ficado estupefactos com o seu desenvolvimento - Agostinho Neto, numa recepção no Hotel Trópico, seria o primeiro a confessar-mo.
Aquelas capitais haviam atingido, na verdade, um cosmopolitismo e uma desenvoltura (na comunicação, nos costumes, nos lazeres, nos empreendimentos) superiores aos de Lisboa. Elegantes e afáveis, eram as cidades mais gentis do continente.
O vento que sopra do Oriente faz da parte leste de Africa um lugar de estranhos cruzamentos, cruzamentos de crenças, de ritmos, de mistérios, de melodias, de filosofias, de ocultos.
Um antigo Presidente da República trocaria mesmo, devido à sua influência, o marxismo pela meditação transcendental. Vários ministros e generais fizeram o mesmo.
«A tecnologia da percepção deu-nos uma combinação de paz e chuvas, um facto nunca visto num quarto de século. Possuo o poder de melhorar as condições climatéricas, o que estou a fazer», afirmava, na chefia do Estado, Joaquim Chissano, convicto de lhe «ser possível» tornar o seu país «um Paraíso na Terra».
Em África os espíritos têm muito poder. Muita memória. São eles que iluminam os vivos, lhes inspiram os gestos, os sentimentos, as venerações, as felicidades, os anátemas. Daí o peso dos cultos, da religiosidade, do profano - do pagão.
Os africanos falam da democracia com displicência. Sempre acreditaram com displicência na «felicidade» que os brancos lhes levaram, do Oeste e do Leste - entre armas, crucifixos, votos, divisas, idiomas, culturas, tecnologias, ludíbrios.
«Para quê gastar milhões a pôr cruzes em papelinhos, às escondidas, se os espíritos, que tudo sabem e tudo transmitem, vêem onde elas são postas e logo o revelam aos votantes?», provocam. «Mais valia darem-nos esse dinheiro prà gente gastar em festas e petiscos!»
Escravo de sobas que o traficaram, contratado de colonos que o inferiorizaram, vítima de polícias que o torturaram, de exércitos (de Portugal, do MPLA, da FNLA, da UNITA, da Frelimo, da Renamo, de Cuba, da URSS, da África do Sul, das Nações Unidas) que o retalharam, o angolano e o moçambicano pobres viram, dobrada a independência, hipotecarem-lhe uma vez mais o futuro.
E não pediam muito: alguma liberdade, alguma comida (fuba, sal, açúcar, cerveja), uma manta, um rádio, uma bicicleta, uma tabanca.
O africano aburguesado, intelectualizado, não parece, por sua vez, ter especial orgulho nos seus; imita o branco na moda, nos comportamentos, nos imaginários, nos telemóveis; a mulher alisa o cabelo (extraordinária a quantidade de «salões» de beleza nos musseques com a tabuleta «Desfrisa-se»), fala de vernissages em Paris e Nova Iorque, lê revistas VIP, mostra consumismos e exibicionismos inesgotáveis.
Frotas de táxis e autocarros multiplicam-se hoje substituindo os velhos chapas - penosas carrinhas abertas, ajoujadas de passageiros e mercadorias a monte sob lençóis de lona, sem lotações, sem espaços nem destinos garantidos.
Políticos, banqueiros, diplomatas, comerciantes, industriais, militares, padres, jornalistas, professores, formadores, operadores desembarcam todos os dias nos fervilhantes aeroportos de Luanda e Maputo em direcção ao Trópico, ao Continental, ao Polana (um dos hotéis mais deslumbrantes do mundo), ao Kaya Kwanga (soberbo aldeamento turístico), com paragem no El Greco, no Costa do Sol, restaurantes onde o peixe é um pitéu e o camarão uma iguaria.
«Nunca se pilhou tanto como agora em nome da cooperação e dos altos valores da solidariedade», alerta o escritor Nelson Saúte.
«Os velhos colonos portugueses tratavam-nos melhor do que nos tratam os africanos que estão no poder», exclama-me um negro do Cacuaco, quatro anos preso pela PIDE e três pela DISA. «Os humilhados humilham, não é?»
Durante as guerras civis, várias gerações de jovens viram-se mobilizados à força e enviados, por as conhecerem, para as zonas de onde eram naturais.
«Ficaram muito traumatizados, pois mandaram-nos matar os próprios irmãos, familiares, amigos», destaca-me Pedro Horacio Caballero, padre da Congregação dos Missionários do Verbo Divino, «Isso gerou-lhes violências terríveis que a droga agravou. Perderam o sentido da vida, dos valores morais, da dignidade do ser humano.»
Vou agora numa estrada semidesminada. A paisagem de descampados lembra o Alentejo. Gigantescos camiões manobram lentamente, saindo e reentrando com dificuldade nas faixas desfeitas.
«Abatemos aqui muitos bandidos», recorda o comandante da coluna que nos integra: «Um entregou-se, não tinha mais de 12 anos. Com armas nas mãos, essas crianças eram demoníacas, cometiam as maiores violências que se possam imaginar.»
Frágeis estátuas de terra, as mães negras (muitas delas adolescentes) erguem-se em salvação das crianças que carregam às costas, que pregam na secura dos seus peitos desfeitos.
É-lhes, porém, difícil avançar. A fragilidade do nível de vida marginaliza os mais vulneráveis enquanto, em sentido inverso, facilita a concentração da riqueza em grupos minoritários.
O problema de África não é o futuro, é o presente, presente incubado de velhos, resistentes ovos de serpente.
A África portuguesa está cheia de excessos, de contradições, daí que se a ame e odeie ao mesmo tempo, com a mesma sinceridade e desmesura.
O seu delírio adoece os que contagia, como um veneno, um feitiço. Pessoas falam sozinhas pelas ruas. Algumas fazem longos discursos, vociferam, acusam, amaldiçoam, gargalham. Vasculham os contentores do lixo, exploram piedades, dormem nos escombros, surripiam nas esquinas.
Crianças de 12 anos são, na gíria local, trabalhadoras de sexo, para sustentar a família, sobretudo os idosos e desempregados - que lhes retribuem, por suportarem mal essa dependência, com maus-tratos, espancamentos, queimaduras, violações. Menos de um dólar por mês é o dinheiro com que vivem, mensalmente, milhares de agregados locais.
Parte dos habitantes de Luanda e Maputo aceitam-se desperdício entre desperdícios. Muitos mantêm-se a copos de água açucarada e a conchas de arroz condimentado; o desânimo, o medo, cobrem as cidades de visco e névoa.
Quando não há que comer, pais há que enxotam os filhos de casa. Para a pedincha, para o roubo e, se apetecidos, para a prostituição.
Os contentores do lixo desmantelam-se pelas ruas espalhando detritos e infecções entre as crianças, os velhos, as mulheres, os animais que os revolvem sem nojo nem pressa.
Milhares de crianças vivem nos detritos, alimentam-se dos detritos. As suas casas são os cartões com que se cobrem de madrugada; as suas famílias, os vadios com quem dividem o roubo, a fome, a passa, a violência.
«A africanidade foi-se deteriorando, a vida económica e financeira piorando até atingir o cúmulo de os chefes de família não se assumirem como tal porque quem proporciona as refeições é a filhinha de 14 anos», leio numa publicação. «Os homens perderam voz activa nos lares, dado que, se estão vivos, devem-no às constantes visitas que as mulheres recebem neles.»
Várias famílias abandonam os seus moribundos, e até os seus cadáveres, porque não têm dinheiro para custear as despesas fúnebres.
Em Angola e Moçambique não se vive do ordenado dos empregos, vive-se do tráfico dos empregos.
Juntamente com a violência, a corrupção e os desequilíbrios sociais, a SIDA tornou-se um flagelo. «Ela é de facto o nosso grande desafio, mais do que a malária e a cólera», diz-me Hélder Miranda, médico português radicado na cidade da Beira: «Penso que 20 por cento, ou mais, da população está afectada, com tendência para subir. O que fazemos é controlar o estado das pessoas, pois não existem tratamentos em massa com retrovirais.»
Morre-se cedo e depressa. A esperança de vida desceu já dos 40 para os 30 anos. Com incrível capacidade de aceitação, o africano resigna-se e, surpreendentemente, tudo parece ignorar.
Os símbolos da SIDA e do preservativo tornaram-se quotidianos (sem eficácia devido ao fanatismo das igrejas) nas ruas, nas paredes, nas escolas, na TV, na rádio. A rádio é (continua a ser) a pele de Angola e Moçambique, a reverberação do seu imaginário.
O desenvolvimento rural e a formação dos jovens constituem dois campos a desenvolver prioritariamente. Angola e Moçambique são territórios muito ricos em termos agrícolas e humanos, com populações sequiosas de fazer coisas diferentes, de utilizar os imensos recursos à sua volta.
Arroz, milho, algodão, mandioca, tabaco, café, cereais, produtos hortícolas, frutas únicas, pecuária, pescas, minérios, diamantes, petróleo, gás tomaram-se-lhes altamente favorecidos. «Angola é tão rica, tão rica que até tem água», ironiza-se.
Depois da agricultura, o turismo representa hoje outro grande campo a explorar, seguindo se o da produção de energia eléctrica.
Juntamente com o Brasil e a China, Moçambique é o país de maiores recursos hídricos do mundo. Só no Rio Zambeze podem erigir-se, sem grande sobrecarga, três centrais maiores que a de Cabora Bassa. Isso permitirá não só a exportação de electricidade, como o seu embaratecimento interno, o que proporcionará condições excepcionais para indústrias e transportes.
Opositor da Frelimo e da Renamo, Alberto Vaquina, ex-governador da Beira, defende o turismo como uma das vias a tomar. Com boas estradas e unidades hoteleiras, com belezas naturais únicas e praias inigualáveis, a região tem na Gorongosa a cereja do seu bolo.
«O parque vai voltar a ser um ponto de encontro dos moçambicanos do Norte, do Sul e do Centro, e um ponto de encontro dos moçambicanos com os outros povos», especifica.
A Gorongosa pode, com efeito, atingir o estatuto de melhor reserva de caça do planeta, atraindo as elites dos multimilionários caçadores internacionais, pela variedade, pela raridade das suas espécies zoológicas. Em Marromeu, por exemplo, existe já a maior colónia de búfalos do continente.
As esplanadas enchem-se. As do Piripiri e do Continental são cais apetecíveis onde refluem colonos e cooperantes, funcionários e turistas, tecnocratas e intelectuais, políticos e jornalistas, professores e diplomatas, vadios e desenrascas.
Portugueses residentes (são os únicos, dos das várias nacionalidades desembarcados na região, que se misturam nos cafés com os naturais) bebericando, em grupo pela tarde dentro, imperiais e futebóis.
Os grandes clubes, sobretudo o Benfica, o Sporting e o Porto, conservam aqui idolatrias faiscantes. «De Lisboa? Que engraçado, ainda ontem escrevi uma carta ao Benfica a pedir-lhe para que a televisão dê mais jogos seus», revela-me um taxista.
Um quadro de empresa esquece um pequeno embrulho na mesa onde preguiçara. De imediato dois jovens negros precipitam-se, levando-lho; um adolescente mulato, olhos verdes e cabelos loiros, arrumador de carros — também aqui eles enxameiam —, dirige-se-lhe: «Patrão, eu tinha pensado roubar-te a pasta, mas isso chateia-me. Dá-me alguma coisa para comer.»
Por vezes tenho a impressão de estar fora do tempo - as deferências dos criados parecem as de outrora: «Bica? Sim, patrão, eu sei o que é bica, e cimbalino, e garoto!», exclama-me, embevecido, um sorridente empregado de mesa.
O parque automóvel (predominam as marcas japonesas) é hoje moderníssimo, velocíssimo. Jipes soberbos, com ar condicionado e estereofonias no máximo, coalham as zonas elegantes.
Há uma necessidade grande de afirmação por parte dos jovens, que o fazem através do vestuário, dos penteados, dos veículos, das músicas, das provocações - vejam-se os seus comportamentos nas piscinas e discotecas de luxo.
A classe bem da capital, satelitizada em redor dos estrangeiros, aparta-se displicentemente das multidões de desempregados, de abandonados, de subalimentados que emergem das ruas.
O salário mínimo, cerca de 50 euros, corresponde ao preço de uma refeição num restaurante de primeira. Cerca de 95 por cento do comércio e indústria está nas mãos de não-negros e 80 por cento na de indianos e chineses. Os negros pobres somam 95 por cento da população, sem contar com os refugiados e os militares desmobilizados.
África suscita sentimentos extremos. Quem um dia a conhece fica para sempre marcado por ela. Daí a dilatação dos que, vindos de fora, por destino, por opção, se lhe entregam - em todos os sectores, em todos os lugares, em todas as idades. As suas histórias são perturbadoramente melancólicas, discretamente afagantes.
Os chineses abrem muitas lojas, mas como trazem as famílias não dão empregos aos locais, a não ser para carregar sacos e mercadorias. «Não fazem nada pelo país, como os portugueses, e quando começam a sentir-se apertados põem-se a andar», comenta-me um comerciante de Quelimane.
«Nós conseguimos mais sentados no chão, no mato, do que os senhores dos ministérios ou dos bancos internacionais nos hotéis», comenta-me o professor Fernando Cristóvão, ex director do ICALP, «Por isso voltamos a estar presentes em Moçambique e Angola, e a seu pedido.»
Os portugueses retornam, com efeito, a Africa, mesmo que os chegados não a tenham conhecido antes. Encontramo-los nos aeroportos, nos restaurantes, nos hotéis, nas repartições de Luanda e Maputo. Chegam de várias partes, para várias partes, discretos, emocionados. Espalham-se por sectores intermediários, revenda e reconstrução, lançam amigos e sócios, abrem lojas e serviços, organizam transportes e assistências, activam oficinas e indústrias.
«A vinda deles é um bom sinal!», exclamam velhos calcinhas, melancolizados de memórias e fantasias.
Enquanto novos portugueses emergem, esperançados, em Africa, outros matam-na, desesperados, em si — porque mataram nela.
«Eu matei. Eu estive em Moçambique nos anos de 1970 a 1973. E atirei. Não faço como a maioria dos militares que dizem nunca ter disparado contra ninguém. Eu atirei e matei.» João Caldeira, antigo pára-quedista, tenta falar com naturalidade, num encontro de deficientes de guerra realizado em Lisboa, do tempo do caos.
Como o tentará Mário Gaspar, ex-combatente da Guiné: «Menti. Estou doente. Hoje estou em guerra comigo e com os meus. Não sei o que hei-de fazer. Estou amputado psicologicamente. Sinto-me muito mal.» Ou Carmo Vicente, sete anos (houve quem fizesse cinco comissões de vinte e seis meses cada) em Africa: «Ninguém assume ter matado lá. Só dispararam para o ar. Se ninguém assume isso, então não houve Guerra Colonial. Mas houve. E fizemos nela muita porcaria.»
Os ex-combatentes não gostam de evocações. Não por remorsos, que não retêm, mas por recato, que não disfarçam. «Sentimos muito pudor», afirma o tenente-coronel Carlos Fabião.
As suas reacções fazem-se de silêncios e sussurros. África, colónias, combates, massacres, resistências tornaram-se há muito mercadorias de exclusão.
Para os tecnocratas nos poderes, são assuntos ultrapassados; para os patriotas, vertigens a não macular; para os comentadores, displicências desinteressantes; para os intelectuais, inibições bloqueadoras; para o português comum, nevoeiros longínquos.
Aos que fizeram a guerra, aos que ficaram deficientes, aos que viram desaparecer nela familiares, amigos, amantes apenas resta o vazio — o silêncio.
O stress pós-traumático tornou-se um fenómeno gravíssimo. Em Portugal, cerca de 140 mil homens (dos 800 mil mobilizados) sofrem-lhe os efeitos.
Entre as suas causas, destacam-se as sequelas provocadas pela morte de camaradas, por combates directos, por ataques, por ferimentos, por assassínios, por violações, por torturas, por sede, fome, isolamento, por luta corpo a corpo, por medo da selva, por manuseamento de cadáveres, por cativeiro prolongado.
Os deficientes, agressivos em relação aos que os cercam, vivem semiclandestinos, trancados em casa, grande parte na linha de Sintra, calando dores e abandonos. Já não têm esperança de que as coisas melhorem. Pelo contrário, as pensões deterioram-se, os afectos esvaziam-se, os corpos fragilizam-se, as memórias tumultuam-se.
Têm um tempo de vida mais baixo (morrem entre os 40 e os 50 anos) do que os outros. Para a mente amputada não há qualquer tipo de prótese.
São restos mal-amados, mal tolerados do velho império português. «Oh, Guerra Colonial/ Quanto de ti/ É sangue de Portugal», canta baixinho Sá Flores, cego em operações no Norte de Moçambique.
Ajudar os jovens mobilizados a fugir (dinheiro para os passadores, verbas para os controladores, referências para os acolhedores) fez-se, no passado, ritual de engenhos e secretismos. O número dos que voltavam costas aos embarques explodia, então, de ano para ano.
Oficiais milicianos que haviam cumprido uma missão no Ultramar eram chamados de novo, abandonando, aos 30, 35 anos, famílias, carreiras, profissões, empreendimentos, compromissos.
Na última fase do conflito evadiram-se do país mais de 33 por cento deles. Em 1972, por exemplo, a partida de dois batalhões teve de ser adiada devido ao desaparecimento (fuga) dos seus comandos intermédios. Algumas incorporações tiveram metade de refractários.
Famílias com filhos em idade de pré-incorporação emigravam, desesperadas, a fim de os subtrair aos horrores da guerra. Perto de mil jovens debandavam anualmente.
Os estropiados (físicos e mentais) amontoavam-se em clínicas-reservas que os imergiam dos olhares públicos. Os mortos iam a sepultar ante salvas de Mauser, lágrimas de íntimos e, aos 10 de Junho, medalhas da Nação.
O corte que a deserção implicava tornava-se total. Quantos anos teriam de passar até ser possível o regresso?
Apetecia mais acreditar que as coisas iriam correr bem, que dois anos passariam depressa, que o dinheiro amealhado (do pré) daria para comprar carro ou casa, ou enxoval, que conhecer África até poderia ser bom.
Para muitos foi: salvaram, com as transferências das suas mensalidades, as famílias da miséria, privilegiaram-se, no regresso, nos cursos académicos, abriram negócios e casamentos, radicaram-se, findas as comissões, nas colónias, ingressando com vantagens em carreiras e empregos resguardadores.
Recusar a matança tornou-se o comportamento mais radical então tomado. E o mais polémico - partidos da oposição, caso do PCP, opunham-se-lhe com frontalidade.
Fugir à guerra era «secá-la», e isso não interessava nem aos que a defendiam nem aos que a combatiam, isto é, aos que a utilizavam como arma das suas estratégias.
Só os desertores rejeitaram os jogos em curso. Não lhes perdoaram, por isso, a ousadia; em livros e obras sobre a Guerra Colonial eles chegaram a ser insinuados, por autores de esquerda, de «pouco viris» e «pouco solidários».
Não ir à tropa, ser dispensado, chegara a ser uma inferioridade, um labéu — jovens havia que perdiam namorada e reputação por isso.
Nos anos 90, antigos combatentes africanos deslocaram-se, emocionados, a Lisboa. Vieram confraternizar com os inimigos de outrora. Foi um dos momentos mais sublimes da História dos seus países. O encontro deu-se na Churrasqueira do Campo Grande. Abraçavam-se em silêncio. Muitos choravam.
No passado enfrentaram-se e destruíram-se em cumprimento de deveres impostos. «A nossa verdade desmoronou-se.
Mas não temos remorsos, temos amargura», diz-me um deles, José Eduardo Arruda, «Fomos caçadores caçados.»
O poder que os utilizou esfumou-se. Ficaram vazios, abandonados, inúteis. Então juntaram se entre si, sobre a distância e a desigualdade, viajando para enfrentar o vazio, o abandono, a inutilidade.
Oficial miliciano das Forças Armadas portuguesas nos inícios da década de 1960, Manuel Santos Lima, um dos presentes, passa para o MPLA, no seio do qual funda o Exército Popular de Libertação de Angola, de que será, aos 25 anos, o primeiro comandante-em-chefe.
«Quando estava no mato», evoca-me, «punha-me muitas vezes a desejar, nos momentos de ataque, que não atingisse nenhum dos meus antigos companheiros. Alguns deles, contaram mo mais tarde, diziam nas mesmas alturas: “Oxalá que ele não ande perto, deve saber que temos ordens para o capturar vivo ou morto.” Eu teria muitos remorsos se atingisse algum ex colega... Estive três anos na luta, abrimos a primeira frente de guerra em Mayombe, em 1962.»
Santos Lima deixou África («Saí do MPLA com o Mário Pinto de Andrade, em 1963») para ser professor e escritor. Em As Lágrimas e o Vento, admirável romance seu, dá-nos o quotidiano dos combates nos dois lados, nos dois tempos.
Ninguém, entre eles, quer falar de política, de ideologia. Se houve quem se passasse do lado português para o do MPLA, ou da UNITA, ou do PAIGC, ou da Frelimo, também houve quem tenha transitado para o português.
Os territórios portugueses de África eram considerados, no tempo da Monarquia, províncias ultramarinas. Foi a República que lhes mudou a classificação para colónias. Salazar recuperou a designação de províncias ultramarinas, que Marcello Caetano alterou depois para estados ultramarinos.
«Salazar percebeu que era fundamental fazer reformas para manter o império. Alterou a sua política de contenção e mudou a economia de subsistência pela de mercado, ou seja pela capitalista», observa o professor Eduardo Sousa Ferreira, «Tomado o poder, o MPLA, por exemplo, enxertou-lhe, sem a adaptar às estruturas existentes, a economia socialista. O que provocou a falência e a destruição do país.»
Sem nada a perder, os jovens actuais desprezam por igual partidos, líderes, governos, militares, intelectuais, funcionários, cooperantes.
Muitos afirmam mesmo - como na conferência que João de Melo e eu proferimos no Instituto Médio de Economia de Luanda - que a independência não lhes trouxe «nada de positivo», que «hoje vive-se pior», que «a repressão dos angolanos sobre os angolanos é pior do que a dos portugueses sobre os angolanos».
Pôr a independência em causa, desvalorizando-a, achincalhando-a, tornou-se para eles uma maneira de se rebelarem contra um sistema, uma elite que não logrou absorvê-los.
Os conhecimentos dessa elite eram «os do subalterno», não «os do senhor». A sua solidez «restringia-se à dos bens materiais», limitando-se «a repetir o discurso falido da libertação», especifica o escritor Arlindo Barbeitos.
Os responsáveis raciocinam em termos coloniais, não de administradores mas de cipaios, de cipaios que subiram ao poder sem saberem nada de administração, muitos nunca haviam gerido sequer uma empresa, frequentado uma universidade. Daí o seu carácter autoritário, repressivo. Daí a guerra civil ter-se tornado uma metamorfose da Guerra Colonial.
«Os únicos que conheciam Angola eram os portugueses. A sua saída, provocada pelos soviéticos e pelos norte-americanos, foi a nossa ruína. Os primeiros fomentaram-na para melhor dominarem o país, os segundos para provocarem o colapso do regime socialista e poderem, depois, explorar o país. Como aconteceu», sublinha-me a poetisa Maria Alexandre Dáskalos, natural de Angola.
«Ao expulsarem os portugueses, os africanos cometeram o mesmo erro que nós, há quatrocentos anos, ao expulsarmos os judeus», comenta Agostinho da Silva. «Os grandes países modernos fizeram-se», acrescenta, «com imigrantes, com misturas de imigrantes e indígenas. Os PALOP precisam mais de imigrantes do que de cooperantes.»
Técnicos de uma maneira geral bem remunerados (chegam a ganhar 10 mil dólares por mês), os cooperantes não encontram receptividade condizente.
«Alguns vêm cá fazer latrinas, vêm ensinar-nos a fazer cocó. A gente não sabia», ironizam-me.
Aos naturais apenas resta receber, agradecer, saldar - e desviar. O roubo tornou-se-lhes, como nos jovens de Esparta, um modo de vida. Ilegal, mas lícito.
A corrupção, o alcoolismo, o amantismo e a indiferença tornaram-se um quadrilátero marcante nos comportamentos urbanos.
Há uma grande decepção nas palavras de muitos intelectuais pelas rotas que, finda a utopia revolucionária, os seus países seguiram.
O homem novo que pensaram criar era, afinal, um jovem que, salvas raras excepções, apenas se interessava pelos bens materiais e pelo poder económico; um jovem competitivo e cínico, arrogante e corrupto, que despreza os valores espirituais, menoriza a cultura, recusa a memória - como qualquer jovem do mundo capitalista.
«O egoísmo sucedeu à solidariedade. Antigamente, quando alguém gritava por socorro, era socorrido. Havia a solidariedade da resistência e da luta. Hoje, o ideal dos nossos filhos é ter. Ter dinheiro, ter êxito. Se para isso for necessário roubar e matar, roubam e matam. Sofremos guerras durante séculos, guerras tribais, guerra de resistência, guerra de libertação, guerra civil. Estamos agora a aprender a viver em paz, a aprender a amar a paz», pormenoriza-me um professor da Universidade de Luanda.
«Um mapa cor-de-rosa irá ser desta vez conseguido, unindo as duas costas meridionais do continente, apoiado na tecnologia sul-africana e na cultura portuguesa. O inglês e o português serão, na zona, as línguas oficiais», esclarecerá Agostinho da Silva.
O humor, a má-língua chegam a ser irrecusáveis. As anedotas políticas, sobretudo as que referem os históricos do regime e os novos-ricos dele, tornam-se hilariantes.
Os cafés (deliciosíssimo o Continental, com os seus empregados de chapéu de palhinha e os seus queques de arroz), os restaurantes (inesquecível a Catedral, com as suas cascatas e os seus chimpanzés), as boites, as esplanadas, os convívios (reúne-se muito nas casas particulares), os grupos de teatro (vinte só em Maputo), as tertúlias artísticas preenchem voluptuosamente os lazeres daqui.
Depois de todos se criticarem uns aos outros, todos criticam os estrangeiros entretanto chegados - cubanos, franceses, americanos, indianos, chineses, paquistaneses, libaneses, brasileiros, sul-africanos; bem como as Nações Unidas, o FMI, o Banco Mundial, a Comunidade Europeia, as ONG, as igrejas.
As denúncias de traficâncias surgem, os debates multiplicam-se, as críticas irrompem, fazendo emergir os pilares de uma democracia em construção.
Os africanos privilegiados vivem com qualidade: boas escolas, boas clínicas (privadas), boas vivendas, bons restaurantes, bons devaneios e boa protecção dão-lhes condições de primeiro mundo.
Os seus pequenos paraísos tornaram-se, no entanto, grandes bunkers, de muros altos, gradeamentos cerrados, defesas electrificadas, alarmes instantâneos, seguranças permanentes. As empresas de segurança são, aliás, as que, juntamente com as de câmbios, mais se expandiram nos últimos tempos.
O avião deixa-me no Lubango, antiga Sá da Bandeira, única cidade de Angola onde não houve combates.
Situa-se num planalto de vivendas e parques harmoniosos. No cimo, o Cristo Rei, nos arredores a Tundavala e, na descida para a costa, a estrada da Leba, espantosa obra de engenharia rodoviária.
Herdades-modelo abastecem há décadas Luanda (e no tempo de Savimbi na Jamba) de carne, vegetais, frutas, legumes, através de voos diários - o que explicará o não ter havido bombardeamentos na zona.
Num café do Lubango encontro-me com António Inácio dos Santos, de 94 anos, o colono português mais antigo de África. Não se encontra, com efeito, registo de quem o iguale em idade e permanência no continente.
Descendente de madeirenses, é um homem vigoroso, de memória, de humor, de perspicácia, de engenho surpreendentes. Trabalha todos os dias, todos os dias vai às obras que tem sob a sua direcção, todos os dias conduz o jipe de serviço, todos os dias ajuda em tarefas familiares e sociais.
É um símbolo do velho colono que, ido das berças, construiu em Africa, durante décadas, com as mãos, com a vida, cidades, fazendas, empresas, sonhos; abriu caminhos-de-ferro e estradas, distribuiu filhos e crenças, impôs culturas e ilusões, geriu gentios e recursos.
«A minha vida tem muita memória e muita obra. Foi muito rica em tudo. Trabalho, alegrias, amor, dificuldades, êxitos, angústias, abandonos, ingratidões. São 85 anos em Angola», diz, com grande ênfase.
«Nasci em Cabaços, Moimenta da Beira, mas parti com o meu pai para o Brasil. Fomos parar ao Amazonas. Pouco depois de lá estarmos, começámos a ouvir falar de África. Todas as semanas saíam anúncios pedindo trabalhadores. Como Salazar não deixava contratá-los na metrópole, o Norton de Matos, que era o governador, fazia-o no Brasil. O meu pai, que andava na construção civil, inscreveu-se com o meu tio. Os amigos também. Viemos quarenta e oito famílias.
Pusemo-nos a caminho, quer dizer, o barco é que se pôs a caminho. Muito devagar, que era uma grandessíssima lesma. Chamava-se Portugal e estava a desfazer-se (ri). Se viéssemos a nado, andávamos mais depressa. Parou em tudo o que era porto, Lisboa incluída. Trinta e tal dias depois desembarcámos em Luanda. Uns foram para um lado, outros para o outro. Nós viemos para Moçâmedes, de onde tomámos uma camioneta, uma Fiat de pneus maciços, a cair de podre. Pum-pum, pum-pum, por aí fora, até que nos encontrámos aqui, no Lubango. O Lubango só passou a chamar-se Sá da Bandeira anos mais tarde. Foi por isso que a seguir à independência lhe voltaram a pôr o nome original.
Mal chegámos, pusemo-nos a trabalhar no caminho-de-ferro da Huíla. Parte dele foi construído pelas minhas mãos, à picareta. Muita coisa em Angola o foi. Andei por todo o país. Mas não gastei a vida só no trabalho, não senhor. Há outras coisas igualmente importantes, como o futebol, o teatro, a escrita, a música... Fiz de tudo um pouco. Fui guarda-redes durante 20 e tal anos, fui eu que fundei o Futebol Clube do Lubango... e o grupo de teatro, arranjámos uma sede com um palcozinho e pusemo-nos a ensaiar. Dávamos récitas todos os meses, e festas, e bailaricos, divertiamo-nos imenso. A vida era boa, havia futuro. Todo o teatro que se fez aqui durante décadas foi feito por mim. Ensaiava, representava, cantava, escrevia... comédias à maneira do André Brun. Adorava fazer rábulas e compères. Escrevi revistas sem ter visto nenhuma antes. Só muito mais tarde estive no Parque Mayer. Ainda fiz várias revistas depois da independência, íamos representá-las a outras cidades. As pessoas gostavam muito.»
Inácio dos Santos conserva a nacionalidade portuguesa. «Portugal é a minha terra e eu não a renego. Apesar de Portugal nos ter abandonado completamente. Não temos qualquer ligação com ele. Nem jornais, nem revistas, nem livros, nem filmes. Nada. É um desânimo. Às vezes, aparecem por aí uns deputados de Lisboa, falam com a gente, são muito simpáticos, prometem que sim senhor, mas depois não se vê nada. A única coisa que temos de bom, agora, é a televisão internacional. Dos políticos portugueses de quem gostei mais foi de Ramalho Eanes. Foi muito simpático connosco quando aqui esteve. Fez até uma coisa extraordinária: pegou no Presidente Eduardo dos Santos pelo braço e, escapando-se à segurança, trouxe-o para o meio do povo. Acho que foi a primeira vez que Eduardo dos Santos se misturou com o povo. A gente nunca mais esqueceu o general Eanes. Nem a mulher, senhora de grande afabilidade. A Amália também cá esteve, tenho uma fotografia dela. E a Natália Correia. Ficou no Grande Hotel, que foi também construído por mim. Tal como o liceu e a escola industrial. E os cinemas. O Arco íris é a minha obra preferida. É a menina dos meus olhos. Pus tanto gosto, tanto empenho nele! Foi inaugurado em 1972 pelo Duo Ouro Negro. Os cubanos roubaram-lhe, porém, a máquina de projectar. Roubavam tudo. Automóveis, motores, máquinas, objectos, mobílias, tudo. Passavam com camiões gigantescos sem respeitarem ninguém. Às vezes, as rodas esmagavam as crianças que brincavam nas ruas e nem se detinham. Uma tristeza. Ficou tudo parado. Desde a independência só se fez uma única casa de pedra e telha no Lubango. E fui eu que a fiz. O resto são barracões. Os colonos portugueses de antigamente traziam coisas, investiam, construíam, davam a vida por Angola. Não pensavam em embolsar para ir embora... Mas eu não quero falar de política. Não gosto. Nunca tive partido, nem UNITA, nem MPLA, nem FNLA, nada, nada. Não quero saber deles. Só quero que me deixem trabalhar. Só quero esquecer o que fizeram.»
Ramalho Eanes foi o político português que mais dignificou África. Profundo conhecedor dela, foi a ela que dedicou a sua primeira viagem como Presidente da República. Recebido festivamente em Maputo, Samora Machel apresentou-o aos seus de forma surpreendentemente expressiva: «Camaradas, este é o nosso antigo patrão!»
Uma vez, os brancos de Sá da Bandeira tiveram de fugir e refugiar-se no quartel dos bombeiros. «Eramos trinta pessoas», evoca Inácio dos Santos, após dar instruções de trabalho pelo telemóvel.
«Uns tipos da UNITA viram, no entanto, o meu filho mais velho e, apontando-lhe as armas, mandaram-no acompanhá-los. Ao aperceber-me do que se passava fui ter com eles e disse lhes: “Este rapaz é meu filho, não pertence a nenhum partido, não têm nada que o levar. Tomem.” Dei-lhes dinheiro. Muito dinheiro. Aceitaram e foram-se embora. Se não nos tivéssemos escondido nos bombeiros, estivemos lá trinta dias, tínhamos sido aprisionados e mandados não se sabe para onde, como aconteceu a outros. Muitos portugueses brancos foram mortos a sangue-frio só porque eram portugueses e brancos. Não esqueço isso. São mágoas muito profundas que nós, os que cá ficámos, e ficámos por gostar desta terra e desta gente, temos. Sinto uma imensa tristeza por ninguém reconhecer o amor que dedicámos a Angola, e o que fizemos por ela. Trabalhei sempre com negros. Cheguei a empregar sessenta pretos e mulatos. Não tenho qualquer problema rácico. Lembro-me, aliás, de que numa altura treinava uma equipa feminina de basquetebol, muito boa por sinal. Um dia recebemos um convite da Africa do Sul para irmos lá jogar. Punham-nos, porém, uma condição: não levar gente de cor. Mandámo-los passear. A minha vida foi quase toda voltada para os outros. Para ajudar os outros. Ainda pensei ir-me embora. Ainda cheguei a fazer a trouxa, a meter-me no carro com a mulher. A meio do caminho do aeroporto parei. As lágrimas corriam-me. Na minha frente estava a cidade, que ajudara a construir, os amigos, os filhos a chorar. Tudo chorava. Não aguentei. Dei meia volta. Pensei que tanto fazia serem brancos como pretos a governar. Agora que a jornada chegou ao fim, só quero ser enterrado no Lubango.»
À entrada de uma savana, a Yamaha deixa, de súbito, de trabalhar. Retiramos sacas de cereais do camião, logo levadas por mãos vorazes, para continuarmos viagem.
Em breve, estes caminhos serão, por certo, roteiros de turismos internacionais, penso, desejo.
A motoreta vai agora inerte a meus pés, entre garrafas de óleo de amendoim e taleigas de grão de milho.
Em momentos de desânimo releio Alda Lara, que me acompanha sempre que viajo à terra que foi nossa - dela e minha. A sua poesia é, então, alva de renascimentos.
Fernando Dacosta
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















