



Biblio VT




Uma pequena cidade da província francesa, à beira de um lago e próxima à Suíça.
É nessa estação de termas que, aos 18 anos, o narrador, um apátrida, veio se refugiar, para escapar de uma ameaça que sentia pairar a sua volta e combater osentimento de insegurança e pânico. Medo de uma guerra, de catástrofe iminente? Medo do mundo exterior? Ele se escondia, pois, no início daquele mês de julho, em meio a uma multidão de veranistas, quando conheceu dois seres de aparência misteriosa que o iriam arrastar.
Vila triste é a evocação, pelo narrador, daquele verão de quase 15 anos atrás e das figuras de Yvonne Jacquet e René Meinthe, em torno das quais passam, como pirilampos, Daniel Hendrickx, Pulli, Fossorié, Rolf Madéja e muitos outros. Ele tenta fazer reviver os rostos, a fragilidade dos instantes, as atmosferas daquela estação já distante. Mas tudo desfila e se desvela como se visto através do vidro de um trem, como a lembrança de uma miragem e de um cenário de papelão, perpassados por uma música em que se entrecruzam diversos temas: o desarraigado que em vão busca ligações, o tempo que passa e a juventude perdida.
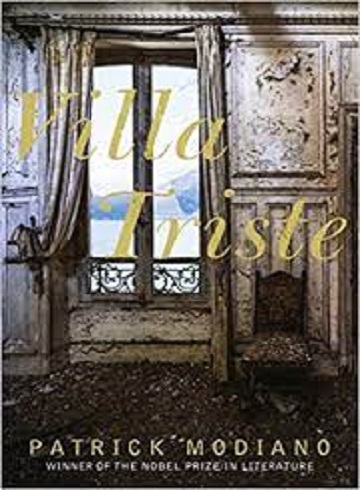
I
Eles destruíram o hotel de Verdun. Era um prédio curioso, diante da estação, orlado por uma varanda cuja madeira apodrecia. Comerciantes em viagem vinham dormir
ali entre dois trens. Tinha a reputação de um hotel de passagem. O café vizinho, em forma de rotunda, também desapareceu. Chamava-se café dos Cadrans ou do Avenir?
Entre a estação e os gramados da praça Albert I havia agora um grande vazio.
A rua Royale, em si, não mudou, mas por causa do inverno e da hora tardia, tem-se a impressão, ao percorrê-la, de se atravessar uma cidade morta. Vitrines da livraria
Chez Clément Marot, de Horowitz, o joalheiro, Deauville, Genève, Le Touquet e da confeitaria inglesa Fidel-Berger... Mais longe, o salão de cabeleireiros René
Pigault. Vitrines de Henry à la Pensée. A maioria dessas lojas de luxo fecha fora da estação. Quando começam as arcadas, se vê brilhar, no fundo, à esquerda, o
néon vermelho e verde do Cintra. Na calçada oposta, na esquina da rua Royale e da praça do Pâquier, a Taverne, que a juventude freqüentava durante o verão. Ainda
é a mesma clientela hoje?
Nada mais resta do grande café, de seus lustres, de seus espelhos e das mesas com guarda-sóis que transbordavam pela calçada. Em torno de oito horas da noite,
eram idas e vindas de
mesa em mesa, grupos que se formavam. Gargalhadas. Cabelos louros. Tilintar de copos. Chapéus de palha. De vez em quando uma saída de praia acrescentava sua nota
sarapintada. Preparavam-se as festividades da noite.
À direita, lá embaixo, o Casino, uma construção branca e compacta, que só abre de junho a setembro. No inverno, a burguesia local joga bridge duas vezes por semana
na sala de bacará e o grill-room serve de local de reunião do Rotary Club da província. Atrás, o parque de Albigny desce num suave declive até o lago com seus
salgueiros-chorões, seu quiosque com música e o embarcadouro onde se toma o barco vetusto que faz ida-evolta entre as pequenas localidades à beira da água: Veyrier,
Chavoires, Saint-Jorioz, Éden-Roc, Port-Lusatz... Enumerações demais. Mas é preciso cantarolar certas palavras, incansavelmente, como cantiga de ninar.
Segue-se a avenida de Albigny, orlada de plátanos. Ela acompanha o lago e no momento em que se curva para a direita, distingue-se um portão de madeira branca: a
entrada do Sporting. De cada lado de uma aléia de cascalho, diversas quadras de tênis. Em seguida, basta fechar os olhos para lembrar da longa fileira de cabines
e da praia de areia que se estende por cerca de trezentos metros. No plano de fundo, um jardim inglês em torno do bar e do restaurante do Sporting, instalados
num antigo laranjal. Aquilo tudo forma quase uma ilha, que por volta de 1900 pertencia ao fabricante de automóveis GordonGramme.
Na altura do Sporting, do outro lado da avenida de Albigny, começa o bulevar Carabacel. Ele sobe, num cordão, até os hotéis Hermitage, Windsor e Alhambra, mas se
pode também pegar o funicular. No verão, funciona até meia-noite e se espera por ele numa pequena estação que tem o aspecto exterior de um chalé. Aqui, a vegetação
é mista e já não sabemos se estamos nos Alpes, na borda do Mediterrâneo ou mesmo nos trópicos. Pinheiros guarda-sóis. Mimosas. Abetos. Palmeiras. Seguindo o bulevar
pelo flanco da colina, descobre-se o panorama: o lago
10
inteiro, a cadeia de Aravis e, do outro lado da água, aquele país fugidio que se chama Suíça.
O Hermitage e o Windsor abrigam apenas apartamentos mobiliados. Não destruíram, porém, a porta rotativa do Windsor e a vidraça que prolongava o saguão do Hermitage.
Lembrem-se: ela era tomada de buganvílias. O Windsor datava dos anos 1910 e sua fachada branca tinha o mesmo aspecto de merengue que as do Ruhl e do Negresco em
Nice. O Hermitage, de cor ocre, era mais sóbrio e mais majestoso. Lembrava o hotel Royal de Deauville. Sim, como um irmão gêmeo. Foram mesmo convertidos em apartamentos?
Luz alguma nas janelas. Seria preciso ter a coragem de atravessar os saguões escuros e galgar as escadarias. Talvez então se percebesse que ninguém mora aqui.
O Alhambra, esse, foi arrasado. Mais nenhum vestígio dos jardins que o cercavam. Eles vão, com certeza, construir um hotel moderno em seu lugar. Um breve esforço
de memória: no verão, os jardins do Hermitage, do Windsor e do Alhambra muito se aproximavam da imagem que se pode ter do éden perdido ou da terra prometida.
Mas em qual dos três havia aquele imenso canteiro de dálias e aquela balaustrada onde as pessoas se apoiavam para olhar o lago, lá embaixo? Pouco importa. Teremos
sido as últimas testemunhas de um mundo.
É muito tarde, inverno. Distingue-se mal, do outro lado do lago, as luzes molhadas da Suíça. Da vegetação luxuriante de Carabacel, restam apenas algumas árvores
mortas e tufos mirrados. As fachadas do Windsor e do Hermitage estão negras e como que calcinadas. A cidade perdeu seu verniz cosmopolita e veranil. Reduziu-se
às dimensões de uma capital de província. Uma cidadezinha escondida no fundo da província francesa. O tabelião e o subprefeito jogam bridge no Casino desativado.
Madame Pigault igualmente, a diretora do salão de cabeleireiros, quarentona loura e perfumada de Shocking. Ao lado dela, Fournier filho, cuja família tem três fábricas
de têxteis em Faverges, e Servoz, dos laboratórios farmacêuticos de Chambéry, excelente jogador de golfe. Parece que a senhora Servoz, morena
como a senhora Pigault é loura, circula sempre ao volante de uma BMW entre Genebra e sua vila em Chavoires, e gosta muito de gente nova. É freqüentemente vista
com Pimpin Lavorel. E poderíamos dar mil outros detalhes igualmente insípidos, igualmente constrangedores sobre a vida cotidiana dessa pequena cidade, porque as
coisas e as pessoas com certeza não mudaram em 12 anos.
Os cafés estão fechados. Uma luz cor-de-rosa se filtra através da porta do Cintra. Querem que entremos para verificar se os lambris de acaju não mudaram, se a lâmpada
do abajur escocês está no lugar, do lado esquerdo do bar? Não retiraram as fotografias de Émile Allais, tiradas em Engelberg quando ele trouxe o campeonato mundial.
Nem as de James Couttet. Nem a foto de Daniel Hendrickx. Estão alinhadas por cima das filas de aperitivos. Amarelaram, é claro. E na semipenumbra, o único cliente,
um homem afogueado, usando um casaco xadrez, bolina distraidamente a garçonete. Ela tinha uma beleza ácida no início dos anos sessenta, mas depois, ficou pesada.
Ouve-se o barulho dos próprios passos na rua Sommeiller deserta. À esquerda, o cinema Régent continua idêntico a si mesmo: sempre esse reboco cor de laranja e
as letras Régent em caracteres ingleses de cor granada. Eles deviam pelo menos modernizar a sala, mudar as poltronas de madeira e os retratos Harcourt das vedetes
que decoravam a entrada. A praça da Estação é o único local da cidade onde brilham algumas luzes e onde ainda reina um pouco de animação. O expresso para Paris
passa à meia-noite e seis. Os soldados em licença da caserna Berthollet chegam em pequenos grupos ruidosos, com a mala de metal ou papelão na mão. Alguns cantam
Meu belo pinheiro: a aproximação do Natal, sem dúvida. Na plataforma n22 eles se aglutinam, se dão tapas nas costas. Dir-se-ia que partem para ofront. Em meio
a todos aqueles capotes militares, um terno civil de cor bege. O homem que o veste não parece padecer de frio; tem em volta do pescoço um lenço de seda verde,
que aperta com a mão nervosa. Ele vai de grupo em grupo,
12
vira a cabeça da esquerda para a direita com uma expressão esgazeada, como se procurasse um rosto no meio daquela multidão. Ele acaba de interrogar um militar,
mas este e seus dois companheiros o inspecionam dos pés à cabeça, zombeteiros. Outros soldados se voltaram e assobiam a sua passagem. Ele finge não prestar atenção
alguma e mordisca uma piteira. Agora, encontra-se à parte, em companhia de um jovem caçador alpino todo louro. Este parece aborrecido e de vez em quando lança
olhares
furtivos a seus camaradas. O outro se apóia sobre seu ombro e lhe sussurra alguma coisa ao ouvido. O jovem caçador alpino tenta libertar-se. Então, ele lhe passa
um envelope para o bolso do casacão, olha-o sem nada dizer e, como começa a nevar, levanta a gola do casaco.
Esse homem se chama René Meinthe. Leva bruscamente a mão esquerda à testa, e lá a deixa, feito viseira, gesto que lhe era familiar, há 12 anos. Como envelheceu...
O trem chegou à estação. Eles entram de assalto, acotovelam-se pelos corredores, descem os vidros, passam as malas. Alguns cantam É apenas um adeus..., mas a maioria
prefere urrar Meu belo pinheiro... Neva mais forte. Meinthe se mantém de pé, imóvel, com a mão na testa. O jovem lourinho, detrás do vidro, examina-o com um sorriso
um tanto mau no canto dos lábios. Toca no boné de caçador alpino. Meinthe lhe faz um sinal. Os vagões desfilam levando as pencas de militares a cantar e agitar
os braços.
Ele afundou as mãos nos bolsos do casaco e se dirige para o restaurante da estação. Os dois garçons arrumam as mesas e varrem à volta delas com largos gestos indolentes.
No bar, um homem de impermeável arruma os últimos copos. Meinthe pede um conhaque. O homem lhe responde num tom seco que não está mais servindo. Meinthe pede
de novo um conhaque.
- Aqui - responde o homem, arrastando as sílabas - não servimos bichas.
E os outros dois, atrás, caíram na gargalhada. Meinthe não se mexe, fixa um ponto diante de si, com ar cansado. Um dos
13
garçons apagou os apliques da parede esquerda. Resta somente uma zona de luz amarelada, em volta do bar. Eles esperam de braços cruzados. Vão quebrar a cara dele?
Quem sabe? Talvez Meinthe vá bater com a palma da mão no balcão gorduroso e gritar: " Sou a rainha Astrid, a RAINHA DOS BELGAS!", com a inclinação e o riso insolente
de outrora.
O que fazia eu aos 18 anos à beira desse lago, nessa famosa estação termal. Nada. Morava numa pensão familiar, dos Tilleuls, no bulevar Carabacel. Eu poderia ter
escolhido um quarto na cidade, mas preferia me ver nas alturas, a dois passos do Windsor, do Hermitage e do Alhambra, cujo luxo e densos jardins me davam segurança.
Eu morria de medo, sentimento que depois nunca me deixou; mas era bem mais vivo e irracional naquela época. Eu tinha fugido de Paris com a idéia de que aquela cidade
tornavase perigosa para pessoas como eu. Lá reinava um ambiente policial desagradável. Ataques demais para meu gosto. Bombas explodiam. Eu gostaria de dar uma precisão
cronológica e, uma vez que os melhores pontos de referência são as guerras, de que guerra, de fato, se tratava? Da que se chamava Argélia, bem no início dos anos
sessenta, época em que se andava de carro conversível na Flórida e as mulheres se vestiam mal. Os homens também. Eu, tinha medo, mais ainda do que hoje e tinha
escolhido esse lugar como refúgio porque estava situado a cinco quilômetros da Suíça. Bastava atravessar o lago, ao menor alarme. Em minha ingenuidade, eu acreditava
que quanto mais a gente se aproxima da Suíça mais chances tem de escapar. Eu ainda não sabia que a Suíça não existe.
A "estação" tinha começado em 15 de junho. As galas e festividades iam se suceder. Jantar dos "Embaixadores" no Casino. Turnê de canto de Georges Ulmer. Três apresentações
de Escutem bem, senhores. Fogos de artificio no 14 de julho, lançados do golfo de Chavoires, balés do marquês de Cuevas e outras coisas ainda que me retornariam
à memória se eu tivesse à mão o programa editado pelo departamento de turismo. Conservei-o e estou certo de tê-lo encontrado entre as páginas de um dos livros
que li este ano. Qual? Fazia um tempo "soberbo" e os freqüentadores previam sol até outubro.
Só muito raramente eu ia tomar banho. Em geral, passava meus dias no saguão e nos jardins do Windsor e acabava me convencendo de que ali, pelo menos, não me expunha
a risco algum. Quando o pânico me tomava - uma flor que abria lentamente suas pétalas, um pouco acima do umbigo - eu olhava a minha frente, para o outro lado do
lago. Dos jardins do Windsor, percebia-se um vilarejo. Cinco quilômetros, se tanto, em linha reta. Poder-se-ia vencer essa distância a nado. À noite, com uma
pequena lancha a motor, levaria uns vinte minutos. Mas é claro. Eu tentava me acalmar. Cochichava, articulando as sílabas: "À noite, com uma pequena lancha a motor..."
Ficava tudo melhor, eu retomava a leitura de meu romance ou de uma revista inofensiva (tinha me proibido de ler jornais e ouvir noticiários no rádio. Toda vez que
ia ao cinema, tinha o cuidado de chegar depois das Atualidades). Não, acima de tudo, nada saber sobre a sorte do mundo. Não agravar esse medo, esse sentimento de
catástrofe iminente. Interessar-se apenas pelas coisas anódinas: moda, literatura, cinema, music-hall. Esticar-se nas grandes espreguiçadeiras, fechar os olhos,
relaxar, acima de tudo relaxar. Esquecer.
Por volta do fim da tarde, eu descia à cidade. Avenida de Albigny, sentava-me num banco e acompanhava a agitação à borda do lago, o tráfego dos pequenos veleiros
e pedalinhos. Era reconfortante. Por cima, as folhas dos plátanos me protegiam. Eu seguia meu caminho a passos lentos e precavidos. Praça
16
do Pâquier, sempre escolhia uma mesa recuada na varanda da Taverne e pedia sempre Campari com soda. E contemplava toda aquela juventude a minha volta, à qual,
aliás, eu pertencia. Eram em número cada vez maior, à medida que a hora passava. Ainda escuto seus risos, lembro os topetes jogados nos olhos. As meninas usavam
calças pescador e shorts de vichy. Os meninos não desprezavam o blazer com escudo e o colarinho da camisa aberto com um lenço. Usavam cabelo curto, o chamado corte
"Rond-Point". Preparavam suas festas. As meninas chegavam com vestidos apertados na cintura, muito rodados, e sapatilhas. Esperta e romântica juventude que mandariam
para a Argélia. Eu não.
Às oito horas, eu voltava para jantar na casa dos Tilleuls. Aquela pensão familiar, cujo exterior, em minha opinião, lembrava um pavilhão de caça, recebia, todo
verão, uma dezena de freqüentadores. Todos eles tinham ultrapassado os sessenta e minha presença, inicialmente, os irritava. Mas eu respirava muito discretamente.
Com uma grande economia de gestos, um olhar voluntariamente terno, um rosto congelado - bater o menos possível as pálpebras - esforçava-me para não agravar uma
situação já precária. Eles perceberam minha boa vontade e acho que acabaram me vendo com melhores olhos.
Fazíamos as refeições numa sala de jantar em estilo saboiano. Eu teria podido iniciar uma conversa com meus vizinhos mais próximos, um velho casal bem cuidado que
vinha de Paris, mas por certas alusões, achei ter escutado que o homem era ex-inspetor de polícia. Os outros jantavam também aos casais, exceto um senhor de bigode
fino e cara de cocker spaniel, que dava a impressão de ter sido abandonado ali. Pelo zunzum das conversas, eu o escutava às vezes soltar breves soluços que pareciam
latidos. Os hóspedes passavam para o salão e se sentavam suspirando nas poltronas estofadas de cretone. A senhora Buffaz, proprietária dos Tilleuls, servia uma infusão
ou um digestivo qualquer. As mulheres falavam entre si. Os homens jogavam uma partida de canastra. O senhor com cara de
17
cachorro acompanhava a partida, sentado recuadamente, depois de ter tristemente acendido um havana.
E eu ficaria de boa vontade ali com eles, na luz doce e tranqüilizante das lâmpadas do abajur de seda rosa-salmão, mas teria sido necessário lhes falar ou jogar
canastra. Será que aceitariam que eu estivesse lá, sem nada dizer, olhando-os? Eu descia outra vez à cidade. Às nove horas e 15 minutos, precisamente - logo depois
das Atualidades - entrava na sala do cinema Régent ou então optava pelo cinema do Casino, mais elegante e mais confortável. Encontrei um programa do Régent que
data daquele verão.
CINEMA RÉGENT
De 15 a 23 de junho: Terna e violenta Elisabeth de H. Decoin De 24 a 30 de junho: Ano passado em Marienbad de A. Resnais De 12 a 8 de julho: R.P.Z. chama Berlim
de R. Habib De 9 a 16 de julho: O testamento de Orfeu de J. Cocteau De 17 a 24 de julho: O capitão Bamba de P. Gaspard-Huit De 25 de julho a 2 agosto: Quem
é o senhor, Sorge? de Y. Ciampi De 3 a 10 de agosto: A noite de M. Antonioni De lia 18 de agosto: O mundo de Suzie Wong De 19 a 26 de agosto: O círculo vicioso
de M Pecas De 27 de agosto a 3 de setembro: O bosque dos amantes de C. Autant-Lara.
Eu reveria de bom grado algumas cenas desses velhos filmes.
Depois do cinema, ia de novo beber um Campari na Taverne. Os jovens já tinham desertado. Meia-noite. Deviam estar dançando em algum lugar. Eu observava aquelas
cadeiras todas, as mesas vazias e os garçons que punham para dentro os guarda-sóis. Fixava o grande jato d'água luminoso do outro lado da praça, diante da entrada
do Casino. Ele mudava de cor sem cessar. Eu me divertia contando quantas vezes virava verde. Um passatempo, como outro qualquer, não é ? Uma vez, duas vezes,
três vezes. Quando chegava ao número 53, eu me levantava. Mas, na maior parte das vezes, nem me dava o trabalho de fazer essa brincadeira. Eu cismava, bebendo pequenos
goles mecânicos. Lembram-se de Lisboa durante a guerra? Todos aqueles sujeitos abatidos nos bares e no saguão do hotel Aviz, com malas e baús, esperando um navio
que não viria? Pois bem, eu tinha a impressão, vinte anos depois, de ser um deles.
As raras vezes em que usava meu terno de flanela e minha única gravata (gravata azul-noite semeada de flores-de-lis que um americano me deu em cujo avesso estavam
bordadas as palavras "International Bar Fly". Fiquei sabendo mais tarde que se tratava de uma sociedade secreta de alcoólatras. Graças a essa gravata podiam reconhecer
uns aos outros e prestar pequenos favores), acontecia de eu entrar no Casino e ficar alguns minutos no umbral do Brummel para ver o pessoal dançando. Eles tinham
entre trinta e sessenta anos, e se notava, às vezes, uma menina mais nova em companhia de um esbelto qüinquagenário. Clientela internacional, bastante "chique"
e que ondulava com os sucessos italianos ou acordes do calipso, aquela dança da Jamaica. Em seguida, eu subia até o salão de jogos. Às vezes assistíamos a grandes
apostas. Os jogadores mais faustosos vinham da Suíça tão próxima. Lembro-me de um egípcio muito tenso, de cabelo ruivo lustroso e olhos de gazela, que acariciava
pensativamente com o indicador seu bigode de major inglês. Ele jogava fichas de cinco milhões e diziam-no primo do rei Faruk.
19
Sentia alívio de me encontrar outra vez ao ar livre. Voltava lentamente na direção de Carabacel pela avenida de Albigny. Nunca tinha visto noites tão belas, tão
límpidas, como naquela época. As luzes das vilas à beira do lago tinham uma cintilação que ofuscava os olhos e nelas eu ouvia alguma coisa de musical, um solo
de saxofone ou de trumpete. Eu percebia também, muito leve, imaterial, o farfalhar dos plátanos da avenida. Esperava o último funicular sentado no banco de ferro
do chalé. A sala era iluminada apenas por uma vigia e eu me permitia deslizar, com uma sensação de confiança total, para dentro daquela penumbra violácea. O que
eu podia temer? O ruído das guerras, o fragor do mundo, para chegar até aquele oásis de férias, tinham que atravessar uma parede acolchoada. E quem teria a idéia
de vir me procurar entre os distintos veranistas?
Eu descia na primeira estação: Saint-Charles-Carabacel e o funicular continuava subindo, vazio. Parecia um verme gordo brilhante.
Eu atravessava o corredor dos Tilleuls na ponta dos pés, depois de ter tirado os mocassins, pois os velhos têm o sono leve.
20
Ela estava sentada no saguão do Hermitage, num dos grandes sofás do fundo e não tirava os olhos da porta rotativa, como se esperasse por alguém. Eu ocupava uma
poltrona a dois ou três metros dela, e a via de perfil.
Cabelo acobreado. Vestido de xantungue verde. E os sapatos de salto agulha que as mulheres usavam. Brancos.
Um cachorro estava deitado aos pés dela. Ele bocejava e se espreguiçava de vez em quando. Um dogue alemão, imenso e linfático com manchas pretas e brancas. Verde,
ruivo, branco, preto. Essa combinação de cores me causava uma espécie de entorpecimento. Como fiz para me ver ao lado dela, no sofá? Quem sabe o dogue alemão
tenha servido de intermediário, ao vir, em seu andar preguiçoso, cheirar-me?
Reparei que ela tinha os olhos verdes, manchas muito ligeiras de rubor e que era um pouco mais velha do que eu.
Passeamos naquela manhã nos jardins do hotel. O cachorro abria o cortejo. Seguíamos uma aléia recoberta por uma cúpula de clematites com grandes flores cor de malva
e azuis. Eu afastava as folhagens em cachos dos cítisos; bordejávamos gramados e moitas de alfena. Havia - se minha memória for boa - plantas de pedrinhas em tons
de geada, espinheiros cor-de-
21
rosa, uma escada ladeada de bacias vazias. E o imenso canteiro de dálias amarelas, vermelhas e brancas. Debruçamo-nos na balaustrada e olhamos o lago, embaixo.
Nunca pude saber exatamente o que ela tinha pensado de mim durante esse primeiro encontro. Talvez me tenha tomado por um rapaz de família milionário que se entediava.
O que a divertiu, em todo caso, foi o monóculo que eu usava no olho direito para ler, não por dandismo ou afetação, mas porque eu via muito menos com esse olho
que com o outro.
Não falamos. Ouço o murmúrio de um esguicho d'água que gira, no meio do gramado mais próximo. Alguém desce a escada em nosso encalço, um homem, cujo terno amarelo
pálido distingui de longe. Ele nos faz um aceno com a mão. Está de óculos escuros e enxuga a testa. Ela me apresenta a ele pelo nome de René Meinthe. Ele logo
retifica: "doutor Meinthe", ressaltando as duas sílabas da palavra doutor. E afeta um sorriso. Devo me apresentar, por minha vez: Victor Chmara. É o nome que escolhi
para preencher minha ficha de hotel em casa dos Tilleuls.
- O senhor é amigo da Yvonne? Ela responde que acaba de me conhecer no saguão do Hermitage e que leio com monóculo. Decididamente, isso muito a diverte. Ela me
pede que eu ponha o monóculo para mostrálo ao doutor Meinthe. Faço-o. "Muito bem", diz Meinthe, balançando a cabeça com ar pensativo.
Então ela se chamava Yvonne. Mas e o sobrenome? Esqueci. Bastam, portanto, 12 anos, para a gente esquecer o estado civil das pessoas que foram importantes em nossa
vida. Era um nome suave, muito francês, algo parecido com Coudreuse, Jacquet, Lebon, Mouraille, Vincent, Gerbault...
René Meinthe, à primeira vista, era mais velho do que nós. Em torno de trinta anos. De estatura mediana, tinha um rosto redondo e nervoso e os cabelos louros puxados
para trás.
22
Tornamos a ganhar o hotel atravessando uma parte do jardim que eu não conhecia. As aléias de cascalho eram aí retilíneas, os gramados simétricos e cortados à inglesa.
Em volta de cada um deles flutuavam platibandas de begônias ou gerânios. E sempre o doce, reconfortante murmúrio dos jatos d'água que regavam o canteiro. Pensei
nas Tulherias de minha infância. Meinthe nos propôs tomar um drinque e depois almoçar no Sporting.
Minha presença lhes parecia completamente natural e se poderia jurar que nos conhecíamos desde sempre. Ela me sorria. Falávamos de coisas insignificantes. Eles
não me faziam nenhuma pergunta, mas o cachorro punha a cabeça contra meus joelhos e me observava.
Ela se levantou dizendo que ia buscar um lenço no quarto. Então estava hospedada no Hermitage? O que fazia aqui? Quem era ela? Meinthe tinha tirado do bolso uma
piteira e mordiscava. Então notei que era cheio de tiques. A longos intervalos, a maçã esquerda do rosto crispava-se como se tentasse segurar um monóculo invisível,
mas os óculos escuros escondiam pela metade esse tremor. Às vezes esticava o queixo para a frente e poder-se-ia imaginar que estava provocando alguém. Por fim,
seu braço direito de vez em quando era sacudido por uma descarga elétrica que se comunicava à mão e esta traçava arabescos no ar. Todos esses tiques se coordenavam
entre si de uma maneira muito harmoniosa e conferiam a Meinthe uma elegância inquieta.
- O senhor está de férias? Eu respondi que sim. E tinha sorte de estar fazendo um tempo tão "ensolarado". E eu achava aquele lugar de férias "paradisíaco".
- É a primeira vez que o senhor vem? Não conhecia? Percebi uma ponta de ironia em sua voz e me permiti lhe perguntar por minha vez se ele próprio passava as férias
aqui. Ele hesitou.
- Oh, não exatamente. Mas conheço este lugar há muito
23
tempo... - Estendeu o braço casualmente na direção de um ponto no horizonte e, numa voz frouxa:
- As montanhas... O lago... O lago... Tirou os óculos escuros e pousou sobre mim um olhar doce e triste. Sorria.
- Yvonne é uma menina maravilhosa - disse ele. Ma-ra-vi-lho-sa.
Ela andava na direção de nossa mesa, com um lenço de musselina verde amarrado em volta do pescoço. Ela me sorria e não tirava os olhos de mim. Alguma coisa se
dilatava do lado esquerdo de meu peito, e decidi que aquele era o dia mais lindo de minha vida.
Entramos no automóvel de Meinthe, um velho Dodge creme, conversível. Sentamo-nos os três no banco da frente, Meinthe ao volante, Yvonne no meio e o cachorro atrás.
Ele deu a partida brutalmente, o Dodge derrapou no cascalho e quase esfolou o portão do hotel. Seguimos lentamente o bulevar Carabacel. Eu não escutava mais o
barulho do motor. Meinthe o tinha cortado para descer na banguela? Os pinheiros guardasóis. dos dois lados da estrada, cortavam os raios de sol e isso produzia
um jogo de luzes. Meinthe assobiava, eu me deixava embalar por um ligeiro balanço e a cabeça de Yvonne pousava a cada curva sobre meu ombro.
No Sporting, estávamos a sós na sala do restaurante, aquele antigo laranjal protegido do sol por um salgueiro-chorão e tufos de rododendros. Meinthe explicava
a Yvonne que tinha de ir a Genebra e voltaria à noite. Pensei que eram irmãos. Mas não. Não se pareciam nada.
Um grupo de umas 12 pessoas entrou. Escolheram a mesa vizinha a nossa. Vinham da praia. As mulheres vestiam marinheiras em tecido de espuma colorido, os homens,
roupões de banho. Um deles, mais alto e mais atlético do que os outros, com o cabelo louro ondulado, falava alto. Meinthe tirou os óculos
24
escuros. Ficou muito pálido, de repente. Apontou o louro alto com o dedo e uma voz superaguda, quase num assobio:
- Aí, lá está a Carlton... A maior POR-CA-LHO-NA da região...
O outro fez que não ouviu, mas seus amigos viraram-se para nós, de boca aberta.
Entendeu o que eu disse, a Carlton? Durante alguns segundos, fez-se um silêncio absoluto na sala do restaurante. O louro atlético estava de cabeça baixa. Seus
vizinhos, petrificados. Yvonne, ao contrário, não tinha se mexido, como se estivesse habituada a tais incidentes.
- Não tenha medo - sussurrou Meinthe, inclinando-se em minha direção -, não é nada, absolutamente nada...
Seu rosto tinha ficado liso, infantil, não se notava nem mais um tique. Retomamos a conversa e ele perguntou a Yvonne o que queria que ele lhe trouxesse de Genebra.
Chocolate? Cigarros turcos?
Ele nos deixou diante da entrada do Sporting, dizendo que poderíamos nos reencontrar por volta das nove horas da noite, no hotel. Yvonne e ele falaram de um tal
de Madeja (ou Madeya), que estava organizando uma festa, numa vila, à beira do lago.
- O senhor vem conosco, hein? - perguntou Meinthe. Eu o olhava caminhar em direção ao Dodge e ele avançava por meio de sucessivas sacudidelas elétricas. Ele deu
a partida, como da primeira vez, cantando pneu e, mais uma vez, o automóvel roçou o portão antes de desaparecer. Ele erguia o braço para nós, sem virar a cabeça.
Eu estava sozinho com Yvonne. Ela me propôs dar uma volta nos jardins do Casino. O cachorro andava na frente, cada vez mais mole. Às vezes, sentava-se no meio
da aléia e era preciso gritar seu nome, "Oswald", para que consentisse em seguir caminho. Ela me explicou que não era a preguiça, mas a
25
melancolia que lhe dava aquele ar casual. Ele pertencia a uma variedade muito rara de dogues alemães, todos tomados de uma tristeza e de um tédio vital congênitos.
Alguns chegavam a se suicidar. Eu quis saber por que tinha escolhido um cachorro de humor tão sombrio.
- Porque são mais elegantes que os outros - explicou ela com vivacidade.
Logo pensei na família dos Habsburgos, que tinha contado entre suas fileiras certos seres delicados e hipocondríacos como aquele cão. Punha-se aquilo na conta dos
casamentos consangüíneos e chamavam seu estado depressivo de "melancolia portuguesa".
- Esse cachorro - disse eu - sofre de "melancolia portuguesa". - Mas ela não ouviu.
Chegamos diante do embarcadouro. Umas dez pessoas subiam a bordo do Amiral-Guisand. Tiravam o passadiço. Apoiadas na rede de proteção, crianças agitavam as mãos,
gritando. O barco se distanciava e tinha um charme colonial e decaído.
- Uma tarde - disse Yvonne - teremos que andar nesse barco. Vai ser divertido, você não acha?
Ela me chamava de você pela primeira vez, e tinha dito essa frase com um entusiasmo inexplicável. Quem era ela? Eu não ousava perguntar.
Nós seguimos a avenida de Albigny e as folhagens dos plátanos nos ofereciam suas sombras. Estávamos sozinhos. O cão nos antecedia uns vinte metros. Ele já nada
tinha de sua languidez habitual, e andava de modo altivo, com a cabeça erguida, fazendo às vezes umas viradas bruscas e desenhando movimentos de quadrilha, à
maneira dos cavalos de carrossel.
Sentamo-nos à espera do funicular. Ela pousou a cabeça em meu ombro e eu experimentei a mesma vertigem que tinha sentido quando descíamos de carro o bulevar Carabacel.
Ainda a ouvir dizer: "Uma tarde... andar... barco... divertido, você não acha?", com seu sotaque indefinível, que eu me questionava se era húngaro, inglês ou
saboiano. O funicular subia lentamente e
26
a vegetação, dos dois lados da via, parecia cada vez mais densa. Ela ia nos engolir. Os cachos de flores se amassavam de encontro aos vidros e, de vez em quando,
uma rosa ou um galho de alfena era levado na passagem.
Em seu quarto, no Hermitage, a janela estava entreaberta e eu ouvia a batida regular das bolas de tênis, as exclamações distantes dos jogadores. Se ainda existiam
gentis e reconfortantes imbecis de roupa branca lançando bolas por cima de uma rede, isso queria dizer que a terra continuava girando e que tínhamos algumas horas
de prazo.
Sua pele estava semeada de manchas de rubor muito leves. Combatia-se na Argélia, ao que parecia.
A noite. E Meinthe que nos esperava no saguão. Vestia um terno de linho branco e um lenço turquesa impecavelmente amarrado em torno do pescoço. Ele tinha trazido
cigarros de Genebra e insistia que experimentássemos. Mas nós não tínhamos nem um instante a perder - dizia ele - senão estaríamos atrasados para a casa de Madeja
(ou Madeya).
Dessa vez, descemos com toda pressa o bulevar Carabacel. Meinthe, com a piteira nos lábios, acelerava nas curvas, e ignoro por que milagre chegamos sãos e salvos
à avenida de Albigny. Voltei-me para Yvonne e fiquei surpreso pois seu rosto não exprimia medo algum. Cheguei a ouvi-la rir num momento em que o automóvel deu
um giro.
Quem era esse Madeja (ou Madeya) a cuja casa estávamos indo? Meinthe me explicou que se tratava de um cineasta austríaco. Ele acabava de rodar um filme na região
- exatamente em La Clusaz - uma estação de esqui, a vinte quilômetros de distância, e Yvonne tinha atuado nele. Meu coração bateu.
- A senhora faz cinema? - perguntei a ela. Ela riu.
27
- Yvonne vai se tornar uma grande atriz - declarou Meinthe, apertando fundo o acelerador.
Ele falava a sério? A-triz de ci-ne-ma. Talvez eu já tivesse visto a fotografia dela na Cinémonde ou naquele Anuário do cinema, descoberto no fundo de uma velha
livraria de Genebra e que eu folheava durante minhas noites de insônia. Acabei gravando o nome e o endereço dos atores e "técnicos". Hoje alguns fragmentos me
vêm à memória:
JUNTE ASTOR: Fotografia Bernard e Vauclair. Rua BuenosAyres, 1- Paris - VIP.
SABINE GuY: Fotografia Teddy Piaz. Comédia - Turnê de canto - Dança.
Filmes: Os clandestinos..., Os velhinhos fazem a lei... Senhorita Catástrofe..., A polca das algemas... Bom dia, doutor etc.
GORDINE (FILMES SACHA): Rua Spontini, 19 - Paris - XVI KLE. 77-94. Sr. Sacha Gordine, GER.
Yvonne tinha um "nome de cinema" que eu conhecia? A minha pergunta, ela murmurou: "É um segredo" e pôs o indicador sobre os lábios. Meinthe acrescentou, com um
riso agudo inquietante:
- O senhor compreende, ela está aqui incógnita. Íamos pela estrada da beira do lago. Meinthe tinha diminuído a marcha e ligado o rádio. O ar estava quente e deslizávamos
através de uma noite sedosa e clara como jamais vi depois, exceto no Egito ou na Flórida de meus sonhos. O cachorro tinha apoiado o queixo na parte côncava de meu
ombro e seu bafo me queimava. À direita, os jardins desciam até o lago. A partir de Chavoire, a estrada era orlada de palmeiras e de pinheiros guarda-sóis.
Nós passamos o vilarejo de Veyrier-du-Lac e nos metemos num caminho em declive. O portão ficava em nível inferior da estrada. Sobre uma placa de madeira, esta inscrição:
"Villa les Tilleuls"(o mesmo nome de meu hotel). Uma aléia de
28
cascalho bastante grande, ladeada de árvores e de uma massa de vegetação abandonada, levava à entrada da casa, grande edifício branco em estilo Napoleão III, com
portas
cor-de-rosa. Alguns automóveis estavam estacionados uns de encontro aos outros. Atravessamos o vestíbulo para desembocar numa peça que devia ser o salão. Lá, na
luz peneirada que duas ou três lâmpadas difundiam, vislumbrei umas dez pessoas, umas de pé junto às janelas, outras embaixo, sobre um sofá branco, o único móvel,
parecia. Eles se dedicavam a beber e mantinham conversas animadas, em alemão e em francês. Um pick-up colocado ali mesmo no assoalho difundia uma melodia lenta a
que se misturava a voz muito grave de um cantor repetindo:
Oh, Bionda gari... Oh, Bionda girl... Bionda girl...
Yvonne tinha me segurado o braço. Meinthe lançava olhares rápidos em torno de si, como se procurasse alguém, mas os membros daquela reunião não prestavam a menor
atenção em nós. Pela porta da sacada alcançamos uma varanda com balaustrada de madeira verde onde se encontravam espreguiçadeiras e poltronas de vime. Uma lanterna
chinesa desenhava sombras complicadas em forma de renda e entrelaços e se podia dizer que os rostos de Yvonne e de Meinthe tinham sido bruscamente encobertos
por pequenos véus.
Embaixo, no jardim, diversas pessoas se apertavam em torno de um bufê que parecia que ia desabar de tanta comida. Um homem muito alto e muito louro nos acenava
e caminhava em nossa direção, apoiando-se numa bengala. Sua camisa de linho bege, muito aberta, parecia uma túnica do Saara, e eu pensava naqueles personagens
que se encontravam antigamente nas colônias e que tinham um "passado". Meinthe me apresentou a ele: Rolf Madeja, o "diretor". Ele se inclinou para beijar Yvonne
e pousou a mão no ombro de Meinthe. Chamava-o de "Menthe", com um sotaque mais britânico do que alemão.
29
Levou-nos em direção ao bufê e aquela mulher loura, também alta como ele, aquela Walkiria de olhar afogado (ela nos fixava sem nos ver, ou então contemplava alguma
coisa através de nós), era sua esposa.
Tínhamos deixado Meinthe em companhia de um jovem com fisico de alpinista e íamos, Yvonne e eu, de grupo em grupo. Ela beijava todo mundo e quando lhe perguntavam
quem eu era, ela respondia: "um amigo." Pelo que entendi, a maior parte daquelas pessoas tinha participado do "filme". Dispersaram-se pelo jardim. Aí tudo se
via muito bem devido ao clarão da lua. Seguindo as atéias invadidas pelo capim, descobria-se um cedro de altura assustadora. Tínhamos atingido o muro da cerca,
atrás do qual se escutava o marulho do lago e permanecemos ali, um longo momento. Daquele lugar se percebia a casa, que se erguia no meio do parque abandonado
e se ficava surpreso com sua presença, como se se acabasse de chegar àquela cidade antiga da América do Sul onde, parece, uma casa de ópera em estilo rococó,
uma catedral e hotéis particulares em mármore de Carrara estão hoje enterrados sob a floresta virgem.
Os convidados não se aventuraram a ir tão longe quanto nós, com exceção de dois ou três casais que discerníamos vagamente e que aproveitavam a mata luxuriante e
a noite. Os outros se mantinham diante da casa ou na varanda. Juntamo-nos de novo a eles. Onde estava Meinthe? Talvez lá dentro, no salão. Madeja se aproximou e
com seu sotaque meio britânico meio alemão nos explicava que de bom grado ficaria aqui mais 15 dias, mas tinha que ir a Roma. Alugaria de novo a vila em setembro
"quando a montagem do filme estivesse terminada". Ele pega Yvonne pela cintura e não sei se a bolina ou se seu gesto tem alguma coisa paternal:
- Ela é muito boa atriz. Ele me fixa e noto em seus olhos uma bruma cada vez mais compacta.
- O senhor se chama Chmara, não é? A bruma se dissipa de repente, seus olhos brilham com um fulgor azul mineral.
30
- Chmara... é mesmo Chmara, hein? Eu respondo: sim, na ponta dos lábios. E seus olhos, de novo, perdem sua dureza, borram-se, até se liquefazerem completamente.
Sem dúvida ele tem o poder de governar seu brilho à vontade como se ajusta um par de binóculos. Quando quer se voltar para si mesmo, então os olhos se embaçam
e o mundo exterior não é mais que uma massa fluida. Conheço bem esse procedimento porque o emprego com freqüência.
- Havia um Chmara, em Berlim, no tempo... - me dizia ele. - Não é, Ilse?
Sua mulher, esticada numa espreguiçadeira na outra extremidade da varanda, tagarelava com dois jovens e se voltou com um sorriso nos lábios.
- Não é, Ilse? Havia um Chmara no tempo, em Berlim. Ela o olhava e continuava sorrindo. Depois, virou de novo a cabeça e retomou sua conversa. Madeja sacudiu os
ombros e apertou a bengala com as duas mãos.
- Sim... Sim... Esse Chmara morava na aléia Kaiser... O senhor não está acreditando em mim, hein?
Ele se levantou, acariciou o rosto de Yvonne e andou na direção da balaustrada de madeira verde. Ficou lá, de pé, compacto, a contemplar o jardim sob a lua.
Nós estávamos sentados um ao lado do outro, sobre dois pufes, e ela apoiava a cabeça contra meu ombro. Uma moça morena cuja blusa cavada deixava ver os seios (a
cada gesto um pouco mais brusco, pulavam para fora do decote) nos estendia dois copos cheios de um líquido cor-de-rosa. Ela ria às gargalhadas, beijava Yvonne,
suplicava em italiano que bebêssemos aquele coquetel que ela tinha preparado "especialmente para nós". Chamava-se, se me lembro bem, Daisy Marchi e Yvonne me
explicou que fazia o papel principal no "filme". Também ia fazer uma grande carreira. Era conhecida em Roma. E já ela nos abandonava, rindo cada vez mais e sacudindo
os longos cabelos, para juntar-se a um homem de cerca de cinqüenta anos, porte esbelto e rosto grisalho que estava à porta da sacada, com um copo na mão. Este
era Harry Dressel, um holandês, um dos
atores do "filme". Outras pessoas ocupavam as poltronas de vime ou se apoiavam na balaustrada. Algumas cercavam a mulher de Madeja, que sorria sempre, com os olhos
ausentes. Pela porta da sacada, escapavam um murmúrio de conversas e uma música lenta e melosa mas, desta vez, o cantor de voz grave repetia:
Abat-jour Che sofonde la luce blu...
Madeja passeava no gramado na companhia de um homenzinho careca que lhe batia na cintura, de modo que era obrigado a se abaixar para falar. Passavam e voltavam a
passar na frente da varanda. Madeja cada vez mais pesado e curvo, seu interlocutor cada vez mais empinado na ponta dos pés. Ele emitia um zumbido de zangão e
a única frase que pronunciava utilizando a linguagem dos homens era: "va bene Rolf...va bene Rolf... va bene Rolf...vabenerolf..." O cachorro de Yvonne, sentado
à borda da varanda numa posição de esfinge, acompanhava o vaivém virando a cabeça da direita para a esquerda, da esquerda para a direita.
Onde estávamos? No coração da Haute-Savoie. É inútil me repetir esta frase reconfortante: "no coração da
Haute-Savoie". Penso, antes, num país colonial ou nas ilhas
Caraíbas. Senão, como explicar aquela luz suave e corrosiva, aquele azul noite que deixava os olhos, as peles, os vestidos e os ternos de alpaca fosforescentes?
Aquelas pessoas todas estavam cercadas de uma eletricidade misteriosa e se esperava, a cada gesto delas, que se produzisse um curto-circuito. Seus nomes - alguns
me ficaram na memória e lamento não tê-los anotado todos na hora: eu os teria recitado à noite, antes de dormir, ignorando a quem pertenciam, sua consonância me
teria bastado - seus nomes evocavam aquelas pequenas sociedades cosmopolitas dos portos livres e balcões ultramarinos: Gay Orloff, Percy Lippitt, Osvaldo Valenti,
IIse Korber, Roland Witt von Nidda, Geneviève Bouchet, Geza Pellemont, François Brunhardt...Que
32
vieram a ser? O que dizer-lhes nesse encontro em que os ressuscito? Já nessa época vai fazer 13 anos em breve - me davam a sensação de ter, há muito, queimado suas
vidas. Eu os observava, escutava-os falar debaixo da lanterna chinesa que salpicava os rostos e os ombros das mulheres. A cada um eu emprestava um passado que
recortava o dos outros, e eu gostaria que me revelassem tudo: quando Percy Lippitt e Gay Orloff se encontraram pela primeira vez? Um dos dois conhecia Osvaldo Valenti?
Por intermédio de quem Madeja passou a se relacionar com Geneviève Bouchet e François Brunhardt? Quem, dessas seis pessoas, tinha introduzido no seu círculo Roland
Witt von Nidda? (E cito apenas aqueles cujos nomes guardei.) Uma quantidade de enigmas que supunha uma infinidade de combinações, uma teia de aranha que passaram
dez ou vinte anos a tecer.
Era tarde e procurávamos Meinthe. Ele não se encontrava nem no jardim, nem na varanda, nem no salão. O Dodge tinha desaparecido. Madeja, com quem cruzamos na escadaria
exterior, em companhia de uma menina de cabelo louro muito curto, nos declarou que "Menthe" acabava de sair com "Fritzi Trenker" e com certeza não iria voltar.
Deu uma gargalhada que me surpreendeu e apoiou a mão no ombro da menina.
- Minha bengala de velho - declarou ele. O senhor entende, Chmara? Depois nos deu as costas, bruscamente. Atravessava o corredor apoiando-se com mais força no ombro
da jovem. Tinha o aspecto de um velho lutador de boxe cego.
Foi a partir desse momento que as coisas tomaram outro rumo. Apagaram as lâmpadas do salão. Restava apenas uma vigia na chaminé cuja luz rosa era apagada por grandes
zonas de sombra. À voz do cantor italiano sucedeu-se uma voz feminina, que se interrompia, enrouquecia a ponto de não se compreender mais as palavras da canção
e de se imaginar se era o lamento de uma moribunda ou um grunhido de prazer. Mas a voz de repente se purificava e as mesmas palavras voltavam, repetidas em doces
inflexões.
33
A mulher de Madeja estava deitada atravessada no sofá e um dos jovens que a cercavam na varanda inclinava-se sobre ela, começava a desabotoar lentamente seu vestido.
Ela fixa o teto, os lábios entreabertos. Alguns casais dançam, um pouco colados demais, fazendo gestos um tanto preciosos demais. Na passagem vejo o estranho
Harry Dressel acariciar com a mão pesada as coxas de Daisy Marchi. Perto da porta da sacada, um espetáculo prende a atenção de um pequeno grupo: uma mulher dança
sozinha. Ela tira o vestido, a combinação, o sutiã. Nós nos juntamos ao grupo, Yvonne e eu, por ociosidade. Roland Witt von Nidda, o rosto alterado, a devora com
os olhos: ela está só de meias e ligas e continua a dançar. De joelhos, ele tenta arrancar as ligas da mulher com os dentes, mas ela sempre se esquiva. Afinal,
decide-se por tirar esses acessórios ela própria e continua a dançar completamente nua, girando em torno de Witt von Nidda, roçando-o, e este se mantém imóvel,
impassível, com o queixo estendido, o busto encurvado, toureiro grotesco. Sua sombra contorcida aparece na parede e a da mulher - desmesuradamente aumentada - varre
o teto. Logo não há mais, por aquela casa toda, senão um balé de sombras que se perseguem umas às outras, sobem e descem as escadas, soltam gargalhadas e gritos
furtivos.
Contíguo ao salão, um cômodo de canto. Estava mobiliado com uma escrivaninha maciça com inúmeras gavetas, como eram, suponho, no ministério das Colônias, e uma
grande poltrona de couro verde escuro. Refugiamo-nos ali. Lancei um último olhar ao salão e ainda vi a cabeça da senhora Madeja lançada para trás (estava apoiando
a nuca no braço do sofá). Sua cabeleira loura caía até o chão, e aquela cabeça dir-se-ia que acabava de ser cortada. Ela pôs-se a gemer. Eu mal distinguia o outro
rosto, próximo ao dela. Ela soltava gemidos cada vez mais fortes e pronunciava frases desordenadas: "me mata... me mata... me mata... me mata". Sim, lembro-me
de tudo isso.
O chão do escritório estava coberto por um tapete de lã muito grosso e nós nos deitamos ali. Um raio, ao nosso lado,
34
desenhava uma barra cinza-azulada que ia de um canto do cômodo ao outro. Uma das janelas estava entreaberta e eu ouvia farfalhar uma árvore cuja folhagem acariciava
o vidro. E a sombra dessa folhagem cobria a biblioteca com uma rede de noite e de lua. Estavam ali todos os livros da coleção do "Máscara".
O cão adormeceu diante da porta. Nenhum ruído mais, nenhuma voz nos vinha do salão. Quem sabe todos tinham deixado a vila e só nós permanecíamos? Flutuava no escritório
um perfume de couro velho e me perguntei quem teria arrumado os livros nas prateleiras. A quem pertenciam? Quem vinha à noite fumar um cachimbo aqui, trabalhar
ou ler um dos romances ou escutar o sussurro das folhas?
Sua pele tinha tomado um matiz opalino. A sombra de uma folha vinha tatuar sua espádua. Às vezes, ela se abatia sobre seu rosto e dir-se-ia que estava de máscara.
A sombra descia e lhe amordaçava a boca. Eu gostaria que o dia jamais se levantasse, para ficar com ela encoscorado no fundo daquele silêncio e daquela luz de
aquário. Um pouco antes da aurora" ouvi uma porta bater, passos precipitados acima de nós e o barulho de um móvel virado. E depois gargalhadas. Yvonne tinha adormecido.
O dogue sonhava soltando, a intervalos regulares, um gemido surdo. Entreabri a porta. Não havia ninguém no salão. A vigia continuava iluminada, mas sua claridade
parecia mais fraca, não mais cor-de-rosa, mas verde muito claro. Dirigi-me à varanda para tomar ar. Ninguém também sob a lanterna chinesa que continuava brilhando.
O vento a fazia oscilar e formas dolorosas, umas de aparência humana, corriam pelas paredes. Embaixo, o jardim. Eu tentava definir o perfume que se desprendia daquela
vegetação e invadia a varanda. Mas sim, hesito em dizê-lo pois isso se passava na Haute-Savoie: eu respirava um cheiro de jasmim.
Atravessei outra vez o salão. A vigia sempre difundindo sua luz verde pálida, em ondas lentas. Pensei no mar e naquele líquido gelado que se bebe nos dias de calor:
menta diabolo. Ouvi ainda explosões de riso e sua pureza me espantou.
35
Vinham de muito longe e se aproximavam de repente. Não conseguia localizá-las. Eram cada vez mais cristalinas, voláteis. Ela dormia, a maçã do rosto apoiada sobre
o braço direito, estendido para a frente. A barra azulada que a lua projetava através do cômodo iluminava a fenda dos lábios, o pescoço, a nádega esquerda e o calcanhar.
Sobre suas costas aquilo fazia como que um cachecol retilíneo. Eu prendia a respiração.
Revejo o balanço das folhas atrás do vidro e aquele corpo cortado em dois por um raio de lua. Por que, às paisagens da Haute-Savoie que nos cercam, superpõe-se
em minha memória uma cidade desaparecida, a Berlim de antes da guerra? Talvez porque ela "trabalhasse" num "filme" de "Rolf Madeja". Mais tarde me informei a
respeito dele e fiquei sabendo que tinha debutado muito novo nos estúdios da U.F.A. Em fevereiro de 45, tinha começado seu primeiro filme, Confettis für zwei,
uma opereta vienense muito frívola e muito alegre cujas cenas ele rodava entre dois bombardeios. O filme ficou inacabado. E eu, quando evoco essa noite, avanço
entre as casas pesadas da Berlim de outrora, bordejo cais e bulevares que não existem mais. Da Alexander-Platz, caminhei em linha reta, atravessei o Lust-Garten
e a Sprée. A noite cai sobre as quatro fileiras de tílias e castanheiros e sobre os bondes que passam. Estão vazios. As luzes tremem. E você, você me espera naquela
gaiola de verdura que brilha no final da avenida, o jardim de inverno do hotel Adlon.
36
IV
Meinthe olhou atentamente o homem de impermeável que arrumava os copos. Este acabou por baixar a cabeça e de novo absorveu-se no trabalho. Mas Meinthe permanecia
diante dele, congelado num irrisório alerta. Em seguida, voltou-se para os outros dois que o examinavam, com sorriso mau e o queixo apoiado na ponta do cabo da
vassoura. A semelhança física deles era marcante: os mesmos cabelos louros cortados à escova, o mesmo bigodinho, os mesmos olhos azuis salientes. Inclinavam o
corpo, um para a direita, o outro para a esquerda, de maneira simétrica, tanto se poderia imaginar que fosse a mesma pessoa refletida num espelho. Essa ilusão Meinthe
deve ter tido, porque se aproximou dos dois homens lentamente, com a sobrancelha franzida. Quando estava a alguns centímetros deles, deslocou-se para observá-los
de costas, a três quartos e de perfil. Os outros não se mexiam, mas se adivinhava que estavam prestes a se soltar e esborrachar Meinthe com uma saraivada de murros.
Meinthe desviou deles e recuou para a saída do restaurante, sem lhes tirar os olhos de cima. Eles permaneceram ali, petrificados, sob a claridade avara e amarelada
que destilava o aplique da parede.
Ele agora atravessa a praça da Estação, com a gola do
37
jaquetão levantada e a mão esquerda crispada sobre o lenço, como se estivesse ferido no pescoço. Neva um pouquinho. Os flocos são tão leves e finos que flutuam
no ar. Ele se embrenha pela rua Sommeiller e pára diante do Régent. Lá estão passando um filme muito antigo que se chama La dolce vita, Meinthe se abriga sob o
toldo do cinema e olha as fotografias do filme uma por uma, ao mesmo tempo em que tira do bolso do jaquetão uma piteira. Ele a aperta entre os dentes e apalpa
todos os outros bolsos à procura - sem dúvida - de um Carne!. Mas não encontra. Então seu rosto é tomado por tiques, sempre os mesmos: crispação da bochecha esquerda
e movimentos secos do queixo - mais lentos e mais dolorosos do que há 12 anos.
Ele parece hesitar quanto ao caminho a seguir: atravessar e pegar a rua Vaugelas que se junta à rua Royale ou continuar descendo a rua Sommeiller? Um pouco mais
em baixo, à direita, a placa verde e vermelha do Cintra. Meinthe a fixa, piscando os olhos. CINTRA. Os flocos voam em turbilhão em torno daquelas seis letras e
tomam também eles uma cor verde e vermelha. Verde cor de absinto. Vermelho campari...
Ele anda em direção àquele oásis, com as costas encurvadas, as pernas tesas e, se não fizesse esse esforço de tensão, certamente escorregaria na calçada, boneco
desarticulado.
O cliente de casaco xadrez continua lá, mas já não importuna a garçonete. Sentado diante de uma mesa, bem no fundo, bate com o indicador esticado repetindo numa
vozinha que podia ser a de uma senhora muito velha: "E zim... bum-bum... e zim... bum-bum..." A garçonete, por sua vez, lê uma revista. Meinthe sobe num dos tamboretes
e lhe pousa a mão sobre o braço.
- Um porto claro, minha pequena - cochicha ele.
38
V
Deixei os Tilleuls para morar com ela no Hermitage. Uma noite, vieram me buscar, Meinthe e ela. Eu acabava de jantar e esperava no salão, sentado bem perto do
homem com cara de cocker spaniel triste. Os outros atacavam sua canastra. As mulheres tagarelavam com a senhora Buffaz. Meinthe parou no vão da porta. Vestia um
terno cor-de-rosa muito claro e de seu bolso pendia um lenço verde escuro.
Eles se voltaram para ele. - Senhoras... Senhores murmurou Meinthe inclinando a cabeça. Depois caminhou em minha direção e se endireitou: Estamos esperando-o. Pode
mandar descer sua bagagem.
A senhora Buffaz me perguntou brutalmente: - O senhor está nos deixando? Eu estava de olhos baixos. - Isto ia acontecer mais dia menos dia, madame - respondeu
Meinthe, num tom sem réplica.
- Mas ele poderia ao menos nos avisar com antecedência.
Compreendi que aquela mulher sentia um ódio súbito em relação a mim e que não hesitaria em me entregar à polícia sob o menor pretexto. Fiquei entristecido.
39
- Senhora ouvi Meinthe responder -, esse moço não pode fazer nada, ele acaba de receber uma ordem de missão assinada pela rainha dos belgas.
Eles nos encaravam, petrificados, com as cartas na mão. Meus habituais vizinhos de mesa me inspecionavam com um ar ao mesmo tempo surpreso e enojado, como se acabassem
de perceber que eu não pertencia à espécie humana. A alusão à "rainha dos belgas" foi acolhida com um murmúrio geral e quando Meinthe, sem dúvida querendo enfrentar
a senhora Buffaz que estava a sua frente, de braços cruzados, repetiu, martelando as sílabas:
- Ouviu, madame? A RAINHA DOS BELGAS... - o murmúrio aumentou e me provocou uma fisgada no coração. Então, Meinthe bateu no chão com o salto, esticou o queixo e
gritou muito rapidamente, embaralhando as palavras:
-Não disse tudo à senhora, madame... A RAINHA DOS BELGAS sou eu...
Houve gritos e movimentos de indignação: a maior parte dos hóspedes tinha se levantado e formava um grupo hostil, diante de nós. A senhora Buffaz avançou um passo
e temi que ela desse uma bofetada em Meinthe ou em mim. Essa última possibilidade me parecia natural: eu me sentia o único responsável.
Eu gostaria de pedir perdão àquelas pessoas ou que um golpe de vara mágica apagasse da memória delas o que acabava de acontecer. Todos os meus esforços para passar
desapercebido e me dissimular num local seguro tinham sido reduzidos a nada, em alguns segundos. Eu sequer ousava lançar um último olhar em volta do salão onde
após os jantares um coração inquieto como o meu tinha se sentido tão em paz. E quis mal a Meinthe, por um breve instante. Por que lançar a consternação entre aqueles
pobres hóspedes que jogavam canastra? Eles me tranqüilizavam. Na companhia deles, eu não corria risco algum.
A senhora Buffaz de bom grado teria nos jogado veneno na cara. Seus lábios ficavam cada vez mais finos. Eu a perdôo.
40
Eu a havia traído, de certa forma. Eu tinha sacudido a preciosa relojoaria que eram os Tilleuls. Se ela estiver me lendo (o que duvido; e aliás, os Tilleuls já
não existem), gostaria que soubesse que eu não era um mau rapaz.
Foi preciso descer as "bagagens" que eu tinha arrumado à tarde. Compunham-se de um baú de três malas grandes. Continham escassas roupas, todos os meus livros, meus
velhos catálogos e os números de Match, Cinémonde, Music-hall, Détective e Noir et blanc dos últimos anos. Aquilo pesava muito. Meinthe, querendo deslocar o baú,
quase foi esmagado por ele. Conseguimos, à custa de esforços inauditos, deitá-lo transversalmente. Em seguida, levamos uns vinte minutos para arrastá-lo pelo corredor
até o patamar da escada. Escorávamos, Meinthe na frente, eu atrás, e nos faltava fôlego. Meinthe se deitou totalmente sobre o assoalho, com os braços em cruz e
os olhos fechados. Eu voltei a meu quarto e bem ou mal, vacilando, transportei as três malas até a beira da escada.
A luz se apagou. Fui tateando até o interruptor, mas era inútil acioná-lo, continuava escuro. Embaixo, a porta entreaberta do salão deixava filtrar uma vaga claridade.
Distingui uma cabeça que se inclinava na abertura: a da senhora Buffaz, eu tinha quase certeza. Logo compreendi que ela devia ter retirado um dos fusíveis para
que descêssemos a bagagem na escuridão. E isso me causou um riso nervoso louco.
Empurramos o baú até enfiá-lo na escada pela metade. Estava em equilíbrio precário sobre o primeiro degrau. Meinthe agarrou-se ao corrimão e deu um chute raivoso:
a mala deslizou, pulando a cada degrau e fazendo um barulho assustador. Poderse-ia pensar que a escada ia desmoronar. A cabeça da senhora Buffaz apareceu outra
vez de perfil na abertura da porta do salão, cercada de outras três ou quatro. Ouvi guinchar: "olhem só esses porcos..." Alguém repetia numa voz sibilante a palavra
"polícia". Peguei uma mala em cada mão e comecei a descer. Não via nada. Aliás, preferia fechar os olhos e contar baixo para ter coragem. Um-dois-três. Um-dois-três...
Se escorregasse,
41
seria arrastado pelas malas até o térreo e aniquilado pelo choque. Impossível fazer uma pausa. Minhas clavículas iam arrebentar. E aquele horrível riso louco
voltava a me tomar.
A luz voltou e me ofuscou. Eu me encontrava no térreo, entre as duas malas e o baú, embotado. Meinthe me seguia, a terceira mala na mão (ela pesava menos porque
continha apenas meus negócios de toalete) e bem que eu gostaria de saber quem foi que me deu força para chegar vivo até lá. A senhora Buffaz me estendeu a nota,
que acertei com o olhar fugidio. Depois ela entrou no salão e bateu a porta atrás de si. Meinthe se apoiava contra o baú e batia no rosto com o lenço enrolado
feito bola, com os pequenos gestos precisos de uma mulher que se empoa.
- É preciso continuar, meu velho - disse ele, apontando a bagagem -, continuar...
Arrastamos o baú até a escada exterior. O Dodge estava estacionado perto do portão dos Tilleuls e eu adivinhava a silhueta de Yvonne, sentada na frente. Ela fumava
um cigarro e nos fez sinal com a mão. Conseguimos apesar de tudo alçar a mala ao banco de trás. Meinthe se prostrou de encontro ao volante e eu fui buscar as três
malas, no vestíbulo do hotel.
Alguém estava imóvel na frente do balcão da recepção: o homem com cara de cocker spaniel. Ele andou em minha direção e parou. Eu sabia que ele queria me dizer
alguma coisa mas as palavras não saíam. Achei que ia soltar seu latido, aquele gemido doce e prolongado que eu era sem dúvida o único a escutar (os hóspedes dos
Tilleuls continuavam sua partida de canastra ou sua conversação). Ele permanecia ali, com as sobrancelhas franzidas, a boca entreaberta, fazendo esforços cada
vez mais violentos para falar. Ou estava sentindo náusea e não conseguia vomitar? Ao cabo de alguns minutos retomou a calma e me disse numa voz surda : "O senhor
está indo na hora. Até à vista, senhor."
Ele me estendia a mão. Vestia um casaco grosso de tweed e calça de tecido bege ao avesso. Eu admirava os sapatos dele;
42
de camurça cinzenta com solas de crepe muito, muito grossas. Estava certo de ter encontrado esse homem antes de minha estada nos Tilleuls, e isso devia remontar
a uns dez anos. E de repente... Mas sim, eram os mesmos sapatos, e o homem que me estendia a mão aquele que tanto tinha me intrigado no tempo de minha infância.
Ele ia às Tulherias toda quinta-feira e todo domingo com um barco miniatura (uma reprodução fiel do Kon Tiki) e o via evoluir pelo lago, mudando de posto de observação,
empurrando-o com a ajuda de uma vara quando encalhava contra a margem de pedra, verificando a solidez de um mastro ou de uma vela. Às vezes, um grupo de crianças
até mesmo de gente grande acompanhava aquela manobra e ele lhes lançava um olhar furtivo como se receasse sua reação. Quando lhe perguntavam sobre o barco, respondia,
gaguejando: sim, era um trabalho muito demorado, muito complicado, construir um Kon Tiki. E, enquanto falava, acariciava o brinquedo. Por volta das sete horas da
noite, levava o barco e se sentava num banco para enxugá-lo, com a ajuda de uma toalhaesponja. Eu o via em seguida dirigir-se à rua Rivoli, com o Kon Tiki debaixo
do braço. Mais tarde, devo ter pensado freqüentemente naquela silhueta que se afastava no crepúsculo.
Ia lembrá-lo de nossos encontros? Mas sem dúvida ele tinha perdido o barco dele. Eu disse por minha vez: "Adeus, senhor". Empunhei as duas primeiras malas e atravessei
lentamente o jardim. Ele andava a meu lado, silencioso. Yvonne estava sentada no pára-lama do Dodge. Meinthe, ao volante, tinha a cabeça deitada no banco e os olhos
fechados. Arrumei as duas valises na mala do carro, atrás. O outro espiava todos os meus gestos com interesse ávido. Quando atravessei de novo o jardim, me precedia,
e se voltava de vez em quando para ver se eu continuava lá. Ele levantou a última mala com um gesto seco e me disse: " o senhor permite..."
Era a mais pesada. Eu tinha arrumado nela os catálogos. Ele a pousava a cada cinco metros e tomava ar. Cada vez que eu fazia menção de pegá-la, me dizia:
43
- Por favor, senhor... Quis ele próprio erguê-la ao banco de trás. Conseguiu com muito esforço, depois ficou lá. Os braços balançando, o rosto um pouco congestionado.
Não prestava atenção alguma em Yvonne e Meinthe. Cada vez mais parecia um cocker spaniel.
- Veja, senhor murmurou ele - ... eu lhe desejo boa sorte.
Meinthe deu a partida suavemente. Antes de o automóvel entrar na primeira curva, virei-me. Ele estava de pé no meio da estrada, bem perto de um poste que iluminava
seu casaco grosso de tweed e suas calças bege ao avesso. Só lhe faltava, em suma, o Kon Tiki debaixo do braço. Há seres misteriosos - sempre os mesmos - que se
põem de sentinela a cada encruzilhada de sua vida.
44
VI
No Hermitage, ela não só dispunha de um quarto mas também de um salão mobiliado com três poltronas estofadas de estampado, uma mesa redonda de acaju e um divã.
As paredes do salão e as do quarto estavam cobertas por um papel que reproduzia as telas de Jouy. Mandei pôr o baú num canto do cômodo, de pé, para ter a meu alcance
tudo que suas gavetas continham. Pulôveres ou velhos jornais. As malas, eu mesmo as empurrei para o fundo do banheiro, sem abri-las, pois é preciso estar pronto
de um instante a outro e considerar um refúgio provisório cada quarto onde se dá com os costados.
Além disso, onde poderia eu arrumar minhas roupas, meus livros e catálogos? Os vestidos e sapatos dela enchiam todos os armários e alguns ficavam em desordem sobre
as poltronas e o divã do salão. A mesa de acaju estava coberta de produtos de beleza. O quarto de hotel de uma atriz de cinema, pensava eu. A desordem que os
jornalistas descrevem, na Ciné-Mondial ou na Vedettes. A leitura de todas essas revistas muito me tinha impressionado. E eu sonhava. Então evitava os gestos muito
bruscos e as questões por demais precisas, para não despertar.
Já na primeira noite, acho, ela me pediu para ler o roteiro do filme que acabava de rodar sob a direção de Rolf Madeja.
45
Fiquei muito emocionado. Chamava-se: Liebesbriefe aufdem Berg (Carta de amor da montanha). A história de um instrutor
de esqui chamado Kurt Weiss. No inverno, ele dá cursos às ricas estrangeiras de férias naquela estação elegante de Vorarlberg. Seduz todas, graças à pele queimada
e à grande beleza física. Mas acaba se apaixonando loucamente por uma delas, mulher de um industrial húngaro, e esta retribui seus sentimentos. Eles vão dançar
no bar muito "chique" da estação debaixo dos olhares enciumados das outras mulheres. Em seguida, Kurtie e Lena terminam a noite no hotel Bauhaus. Juram-se amor
eterno e falam da vida futura num chalé isolado. Ela tem de partir para Budapeste, mas promete voltar o mais rapidamente possível. Agora, na tela, a neve cai;
depois cascatas cantam e as árvores se cobrem de folhas novas. É a primavera e, daqui a pouco, eis o verão. Kurt Weiss exerce seu verdadeiro oficio, de pedreiro,
e é com dificuldade que se reconhece nele o belo instrutor bronzeado do inverno. Toda tarde, escreve uma carta a Lena e espera a resposta. Uma moça da região o
visita de vez em quando, Eles vão fazer longas caminhadas juntos.
Ela o ama, mas ele pensa sem cessar em Lena. Ao final de peripécias que me esqueci, a lembrança de Lena pouco a pouco se esvai, em favor da moça (Yvonne fazia
esse personagem) e Kurtie compreende que não se tem o direito de desprezar uma solicitude tão terna. Na cena final, eles se beijam sobre um fundo de montanhas e
pôr-do-sol.
O quadro de uma estação de esportes de inverno, de seus costumes e freqüentadores me parecia muito "batido". Quanto à jovem
que Yvonne encarnava, era "um ótimo papel para uma iniciante".
Comuniquei a ela minha opinião. Ela me escutou com muita atenção. Fiquei orgulhoso dela. Perguntei-lhe em que data poderíamos ver o filme. Não antes do mês de
setembro, mas Madeja vai fazer, sem dúvida, uma projeção em Roma daqui a 15 dias "das tomadas de ponta a ponta". Nesse caso, ela me
levaria lá pois "queria tanto saber o que eu achava de sua interpretação"...
46
Sim, quando tento rememorar os primeiros instantes de nossa "vida em comum", escuto como numa fita magnética usada nossas conversas relativas a sua "carreira".
Quero me tornar interessante. Adulo-a... "Esse filme de Madeja é muito importante para a senhora, mas agora será necessário encontrar alguém que a valorize de verdade...
Um rapaz de gênio... Um judeu, por exemplo..." Ela, cada vez mais atenta. "O senhor acha?" "Sim, sim, tenho certeza".
A candura de seu rosto me espanta, a mim, que só tenho 18 anos. "Você acha mesmo?", diz ela. E à nossa volta a desordem do quarto é cada vez maior. Acho que não
saímos durante dois dias.
De onde vinha ela? Muito depressa compreendi que não morava em Paris. Falava de lá como uma cidade que mal conhecia. Tinha estado brevemente duas ou três vezes
no WindsorReynolds, um hotel da rua Beaujon de que me lembrava bem: meu pai, antes de seu estranho desaparecimento, ali marcava encontros comigo (a memória me
falha: foi no saguão do Windsor-Reynolds, ou no do Lutetia que o vi pela última vez?). Fora o Windsor-Reynolds só guardava de Paris a rua ColonelMoll e o bulevar
Beauséjour, onde tinha "amigos" (eu não ousava perguntar que amigos). Ao contrário, Genebra e Milão recorriam sempre em sua conversa. Tinha trabalhado em Milão e
em Genebra também. Mas que tipo de trabalho?
Olhei seu passaporte, às escondidas. Nacionalidade francesa. Domiciliada em Genebra, praça Dorcière, 6B. Por quê? Para minha grande surpresa, tinha nascido na cidade
de Haute-Savoie onde nos encontrávamos. Coincidência? Ou era originária da região? Ainda tinha família aqui? Arrisquei uma pergunta indireta sobre o assunto, mas
ela queria me esconder alguma coisa. Respondeu-me de modo muito vago, dizendo que tinha sido educada no estrangeiro. Não insisti. Com o tempo, pensava, terminarei
sabendo de tudo.
47
Ela também me fazia perguntas. Eu estava de férias aqui? Por quanto tempo? Tinha logo adivinhado, disse-me, que eu vinha de Paris. Declarei que "minha família"
(e senti grande volúpia ao dizer "minha família") queria que eu fizesse um repouso de vários meses, em função de minha saúde "precária". A medida que lhe fornecia
essas explicações, via uma dúzia de pessoas muito circunspectas, sentadas em volta de uma mesa, num cômodo com lambris: o "conselho de família", que ia tomar decisões
a meu respeito. As janelas do cômodo davam para a praça Malesherbes e eu pertencia àquela antiga burguesia judia que se fixou por volta de 1890 na planície Monceau.
Ela me perguntou à queima-roupa: "Chmara é um nome russo. O senhor é russo?" Então pensei em outra coisa: morávamos, minha avó e eu, num térreo próximo da Étoile,
mais exatamente na rua Lord-Byron, ou na rua de Bassano (necessito de detalhes precisos). Vivíamos da venda de nossas "jóias de família" ou penhorando-as no crédito
municipal da rua Pierre-Charron. Sim, eu era russo, e me chamava conde Chmara. Ela pareceu impressionada.
Durante alguns dias não tive mais medo de nada nem de ninguém. E, em seguida, aquilo voltou. Velha dor alucinante.
Na primeira tarde que saímos do hotel, tomamos o barco Amiral-Guisand, que fazia a volta do lago. Ela exibia óculos escuros de armação grossa e lentes opacas e
prateadas. A gente se refletia neles como num espelho.
O barco avançava preguiçosamente e levou pelo menos vinte minutos para atravessar o lago até Saint-Jorioz. Eu franzia os olhos por causa do sol. Ouvia os murmúrios
distantes de lanchas a motor, os gritos e as gargalhadas das pessoas que se banhavam. Um avião de turismo passou, bem alto no céu, arrastando uma bandeirola onde
li estas palavras misteriosas: TAÇA HOULIGANT... A manobra foi muito demorada, antes de
48
aportarmos - ou melhor, do Amiral-Guisand ir de encontro ao cais. Três ou quatro pessoas subiram, entre elas um padre vestindo batina de um vermelho berrante, e
o barco retomou seu cruzeiro resfolegante. Depois de Saint-Jorioz, dirigiu-se a uma localidade chamada Voirens. Depois, seria Port-Lusatz e, um pouco mais longe,
a Suíça. Mas daria meia-volta a tempo e ganharia o outro lado do lago.
O vento lhe jogava na testa uma mecha de cabelo. Ela me perguntou se seria condessa caso nos casássemos. Disse isso num tom de brincadeira por trás do qual adivinhei
uma grande curiosidade. Respondi que se chamaria "condessa Yvonne Chmara".
- Mas é mesmo russo, Chmara? - Georgiano - disse eu. - Georgiano... Quando o barco parou em Veyrier-du-Lac, reconheci de longe a vila branca e rosa de Madeja.
Yvonne olhava na mesma direção. Uma dezena de jovens se instalou na ponte, a nosso lado. A maioria usava roupa de tênis e sob as saias brancas pregueadas as meninas
deixavam ver coxas grossas. Todos falavam com o sotaque dental que se cultiva para os lados do Ranelagh e da avenida Bugeaud. E me perguntei por que aqueles rapazes
e moças da boa sociedade francesa tinham, uns, ligeira acne, e outros, alguns quilos a mais. Sem dúvida aquilo tinha a ver com sua alimentação.
Dois membros do bando discutiam os méritos respectivos das raquetes Pancho Gonzalès e Spalding. O mais volúvel usava uma barba em toda a volta do rosto e uma camisa
enfeitada com um pequeno crocodilo verde. Conversa técnica. Palavras incompreensíveis. Burburinho doce e embalador, sob o sol. Uma das meninas louras não parecia
insensível ao charme de um moreno de mocassins e blazer com escudo, que se esforçava para brilhar diante dela. A outra loura declarava que "a festa era para depois
de amanhã à noite" e que os "pais lhes deixariam a vila". Barulho da água contra o casco. O avião voltava sobre nós e reli a estranha bandeirola: TAÇA HOULIGANT.
49
Iam todos (pelo que entendi) ao tênis clube de MenthonSaint-Bernard. Seus pais deviam ter vilas à beira do lago. E nós? Aonde íamos? E nossos pais, quem eram? Yvonne
pertencia a uma "boa família" como nossos vizinhos? E eu? Meu título de conde era, na verdade, algo diferente de um pequeno crocodilo verde perdido numa camisa branca...
"Estão chamando o senhor conde Victor Chmara ao telefone." Era como fragor de címbalos.
Nós descemos do barco em Menthon, com eles. Andavam a nossa frente, com as raquetes na mão. Seguíamos uma estrada ladeada de vilas cujo exterior lembrava chalés
de montanha e onde, já há muitas gerações, uma burguesia sonhadora passava as férias. Às vezes, essas casas eram escondidas por massas de abetos ou pinheiros.
Vila Primevère, Vila Edelweiss, Les Chamois, Chalé Marie-Rose... Eles tomaram um caminho, para a esquerda, que levava até as redes de uma quadra de tênis. Seu
zumbido e seus risos diminuíram.
Nós viramos para a direita. Um painel indicava: Grande Hotel de Menthon. Uma via particular subia uma encosta muito áspera até uma esplanada semeada de cascalho.
De lá, tinha-se uma vista tão vasta, mas mais triste, quanto a que se oferecia dos terraços do Hermitage. As margens do lago, desse lado, pareciam abandonadas.
O hotel era muito antigo. No saguão, plantas verdes, poltronas de rotim e grandes sofás forrados com tecido xadrez. Vinha-se para cá nos meses de julho e agosto
em família. Os mesmos nomes alinhavam-se no registro, nomes compostos franceses: Sergent-Delval, Hattier-Morel, PaquierPanhard... E quando pedimos um quarto, achei
que "conde Victor Chmara" ali ia cair como uma mancha de gordura.
À nossa volta, crianças, suas mães e seus avós, todos de uma grande dignidade, preparavam-se para ir à praia, levando bolsas cheias de almofadas e toalhas. Alguns
jovens cercavam um moreno alto, de camisa cáqui de exército aberta no peito e cabelo muito curto. Ele se apoiava em muletas. Os outros lhe faziam perguntas.
50
Um quarto de canto. Uma das janelas se abria sobre a esplanada e o lago, a outra tinha sido fechada. Um espelho grande e uma mesa pequena coberta com uma toalhinha
de renda. Uma cama com barras de cobre. Ficamos lá, até o cair da noite.
Enquanto atravessávamos o saguão, percebi-os fazendo a refeição da noite na sala de jantar. Estavam todos com roupas de cidade. As próprias crianças usavam gravatas
ou vestidinhos. E nós éramos os únicos passageiros no passadiço do AmiralGuisand. Ele atravessava o lago ainda mais lentamente do que na ida. Parava diante dos
embarcadouros vazios e retomava seu cruzeiro de velho bote cansado. As luzes das vilas cintilavam sob o verde. Ao longe, o Casino, iluminado por projetores. Naquela
noite certamente havia festa. Eu gostaria que o barco tivesse parado no meio do lago ou atracasse num dos pontões meio desmoronados. Yvonne tinha adormecido.
Jantávamos freqüentemente com Meinthe, no Sporting. As mesas ao ar livre, cobertas de toalhas brancas. Sobre cada uma delas, lâmpadas com dois abajures. Vocês
conhecem a fotografia do jantar do baile dos Pequenos Leitos Brancos, em Cannes, em 22 de agosto de 1939, e a que eu guardo comigo (meu pai aparece nela no meio
de um pessoal que sumiu), tirada no dia 11 de julho de 1948 no Casino do Cairo, na noite de eleição da miss Beleza do Banho, a jovem inglesa Kay Owen? Pois bem,
as duas fotos poderiam ter sido tiradas no Sporting, naquele ano, enquanto estávamos jantando. Mesma decoração. Mesma noite "azul". Mesma gente. Sim, eu reconhecia
certas caras.
Meinthe usava cada vez um smoking de cor diferente e Yvonne vestidos de musselina ou de crepe. Ela adorava coletes e lenços. Eu estava condenado a meu único terno
de flanela e a minha gravata do International Bar Fly. Nos primeiros tempos, Meinthe nos levava à Sainte-Rose, uma boate à beira do lago, depois de Menthon-Saint-Bernard,
em Voirens, exatamente.
51
Conhecia o gerente, chamado Pulli, que, me disse ele, estava com a permanência proibida. Mas aquele homem com início de barriga e olhos de veludo parecia ser a
doçura em pessoa. Ele ciciava. A Sainte-Rose era um lugar muito "chique". Ali se encontravam os mesmos veranistas ricos do Sporting. Ali se dançava num terraço
com pérgula. Lembro-me de ter apertado Yvonne contra mim pensando que jamais poderia viver sem o cheiro da pele e dos cabelos dela, e os músicos tocavam Tuxedo
Junction.
Em suma, tínhamos sido feitos para nos conhecermos e nos entendermos.
Voltávamos para casa muito tarde e o cão dormia no salão. Desde que me instalei com Yvonne no Hermitage, sua melancolia se agravava. A cada duas ou três horas -
regularidade de metrônomo - ele dava a volta no quarto, depois ia se deitar outra vez. Antes de passar para o salão, parava alguns minutos na frente da janela
de nosso quarto, sentava-se, com as orelhas em pé, talvez acompanhando com os olhos a evolução do AmiralGuisand pelo lago ou contemplando a paisagem. Eu ficava
espantado com a discrição triste daquele animal e emocionado ao surpreendê-lo em sua função de vigilante.
Ela vestia uma saída de praia com largas listas laranja e verde e se deitava na cama, atravessada, para fumar um cigarro. Na mesa de cabeceira, ao lado de um batom
ou vaporizador, estavam sempre jogadas cédulas. De onde vinha aquele dinheiro? Há quanto tempo ela morava no Hermitage? Tinham-na instalado lá enquanto durasse
o filme. Mas agora que havia terminado? Ela queria muito - explicou - passar a "temporada" naquele local de férias. A "temporada" ia ser muito "brilhante". "Férias",
"temporada", "muito brilhante", "conde Chmara"... quem mentia a quem naquela língua estrangeira?
Mas talvez ela precisasse de uma companhia? Eu me mostrava atento, solícito, delicado, apaixonado, como se é aos 18 anos. Nas primeiras noites, quando não se discutia
sua "carreira",
52
pedia-me que lesse para ela uma ou duas páginas da História da Inglaterra de André Maurois. Toda vez que eu começava, o dogue alemão logo vinha sentar-se à
porta que conduzia ao salão e me examinava com o olho severo. Yvonne, deitada, em sua saída de praia, escutava, as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Nunca
entendi por que ela, que jamais tinha lido nada na vida, gostava daquele tratado de história. Dava-me respostas vagas: "É muito bonito, sabe", "André Maurois é
um grande escritor". Acho que encontrou a História da Inglaterra no saguão do Hermitage e que, para ela, aquele volume tinha se transformado numa espécie de talismã
ou porta-felicidade. De vez em quando, repetia "lê mais devagar"ou perguntava o significado de uma frase. Queria decorar a História da Inglaterra. Eu disse que
André Maurois ficaria contente se soubesse disso. Então ela começou a me fazer perguntas sobre esse autor. Expliquei que era um romancista judeu muito terno que
se interessava pela psicologia feminina. Uma noite, quis que eu ditasse uma mensagem: " Senhor André Maurois, eu o admiro. Estou lendo sua História da Inglaterra
e gostaria de ter um autógrafo seu. Respeitosamente. Yvonne X".
Ele nunca respondeu. Por quê?
Desde quando ela conhecia Meinthe? Desde sempre. Ele também tinha - ao que parece um apartamento em Genebra e eles quase nunca se separavam. Meinthe exercia "mais
ou menos" a medicina. Eu tinha descoberto, entre as páginas do livro de Maurois, um cartão de visita com estas três palavras gravadas: "Doutor René Meinthe" e,
na prateleira de um dos lavabos, entre os produtos de beleza, uma receita encabeçada por "Doutor R.C. Meinthe", prescrevendo um sonífero.
Aliás, toda manhã, quando acordávamos, encontrávamos uma carta de Meinthe debaixo da porta. Guardei algumas e o tempo não apagou seu perfume de vetiver. Esse perfume,
eu me perguntava se vinha do envelope, do papel ou, quem sabe, da tinta que Meinthe utilizava. Reli uma delas ao acaso: "Terei
53
acaso o prazer de vê-los esta noite? Preciso passar a tarde em Genebra. Vou lhes telefonar por volta das nove horas para o hotel. Um abraço. Seu Renê M." E esta:
"Desculpem não lhes ter dado sinal de vida. Mas não saio do quarto há 48 horas. Penso que daqui a três semanas terei 27 anos. E serei uma pessoa muito velha, muito
velha. Até muito em breve. Um abraço. Sua madrinha de guerra. René". E esta, endereçada a Yvonne e com uma caligrafia mais nervosa: "Sabe quem acabo de ver no
saguão? Aquele porco do François Maulaz. E ele quis me apertar a mão. Ah não, jamais. Jamais. Que morra!" (essa última palavra sublinhada quatro vezes). E outras
cartas ainda.
Eles muitas vezes falavam entre si de pessoas que eu não conhecia. Guardei alguns nomes: Claude Brun, Paulo Hervieu, uma certa "Rosy", Jean-Pierre Pessoz, Pierre
Fournier, François Maulaz, a "Carlton", um tal de Dudu Hendrickx que Meinthe qualificava de "porco"... Muito rapidamente compreendi que essas pessoas eram originárias
do lugar onde nos encontrávamos, lugar de férias no verão, mas que voltava a ser uma cidadezinha sem história no fim de outubro. Meinthe dizia de Brun e de Hervieu
que tinham "subido" para Paris, que "Rosy" tinha retomado o hotel do pai em La Clusaz e que aquele "sujo" do Maulaz, o filho do livreiro, chamava a atenção todo
verão no Sporting, com um associado da Comédie-Française. Toda aquela gente tinha sido, sem dúvida, amiga de infância ou de adolescência deles. Quando eu fazia
uma pergunta, Meinthe e Yvonne mostravam-se evasivos e interrompiam sua conversa à parte. Eu então me lembrava do que tinha descoberto no passaporte de Yvonne
e os imaginava os dois aos 15 ou 16 anos, no inverno, à saída do cinema Régent.
54
VII
Bastaria eu voltar a encontrar um dos programas publicados pelo departamento de turismo - capa branca sobre a qual se destacam, em verde, o Casino e a silhueta
de uma mulher sentada ao estilo de Jean-Gabriel Domergue. Lendo a lista de féstividades e suas datas exatas, eu poderia constituir pontos de referência.
Uma noite fomos aplaudir Georges Ulmer, que cantava no Sporting. Isso acontecia, acho, no início de julho, e eu devia estar morando com Yvonne há cinco ou seis
dias. Meinthe nos acompanhava. Ulmer vestia um terno azul claro e muito cremoso, em que meu olhar se enviscava. Aquele aveludado azul tinha um poder hipnótico
porque quase adormeci, fixando-o.
Meinthe nos propôs beber alguma coisa. Na semipenumbra, no meio das pessoas que dançavam, ouvi-os falar da Taça Houligant pela primeira vez. Lembrei-me do avião
com a bandeirola enigmática. A Taça Houligant preocupava Yvonne. Tratava-se de uma espécie de concurso de elegância. Segundo o que dizia Meinthe, era necessário,
para participar da Taça, ter um automóvel de luxo. Usariam o Dodge ou alugariam um carro em Genebra? (Meinthe tinha levantado a questão.) Yvonne queria tentar
a sorte. O júri se compunha de diversas personalidades:
55
o presidente do clube de golfe de Chavoire e sua mulher; o presidente do departamento de turismo; o subprefeito de Haute-Savoie; André de Fouquières (esse
nome me sobressaltou e Pedi a Meinthe que repetisse: sim, era mesmo André de Fouquières, por muito tempo conhecido como "árbitro das elegâncias"e de quem eu tinha
lido as interessantes "Memórias"); senhor e senhora Sandoz, diretores do hotel Windsor; o ex-campeão de esqui Daniel Hendrickx, proprietário de lojas de esporte
muito chiques em Megève e Alpe d'Huez (aquele que Meinthe classificava como "porco"); um cineasta cujo nome hoje me escapa (algo como Gamonge ou Gamace) e, por
fim, o dançarino José Torres.
Meinthe também estava muito excitado com a perspectiva de concorrer por essa Taça na qualidade de cavaleiro servil de Yvonne. Seu papel se limitaria a dirigir o
automóvel ao longo da grande aléia de cascalho do Sporting e estacioná-lo diante do júri. Em seguida, desceria e abriria a porta para Yvonne. Evidentemente, o dogue
alemão participaria.
Meinthe assumiu um ar misterioso e me estendeu um envelope, piscando o olho: a lista dos participantes da Taça. Eles eram os últimos na liça, o número 32. "Doutor
R.C. Meinthe e senhorita Yvonne Jacquet" (acabo de encontrar seu sobrenome). A Taça Houligant era entregue todo ano na mesma data e recompensava "a beleza e a
elegância". Os organizadores souberam criar uma badalação publicitária bastante grande em torno dela posto que - me explicou Meinthe - às vezes saía nos jornais
de Paris. Para Yvonne, segundo ele, era muito interessante Participar.
E quando deixamos a mesa para dançar, ela não pôde evitar perguntar o que eu achava: devia ou não participar daquela Taça? Grave problema. Tinha o olhar perdido.
Eu distinguia Meinthe, que tinha ficado sozinho diante de seu porto "claro". Ele tinha posto a mão esquerda diante dos olhos feito viseira. Estaria chorando?
Por instantes, Yvonne e ele pareciam vulneráveis e desorientados (desorientados é o termo exato).
56
Mas é claro que ela devia participar da Taça Houligant. Com certeza. Era importante para a carreira dela. Com um pouco de sorte, seria Miss Houligant. Mas é claro.
Aliás, todas começavam assim.
Meinthe decidiu usar o Dodge. Se fosse polido na véspera da Taça, aquele modelo ainda faria boa impressão. A capota bege estava quase nova.
À medida que os dias passavam e nos aproximávamos do domingo, 9 de julho, Yvonne dava cada vez mais sinais de nervosismo. Virava copos, não ficava quieta, falava
asperamente com o cachorro. E este lhe lançava um olhar de doce misericórdia.
Meinthe e eu tentávamos tranqüilizá-la. A Taça com certeza seria menos desgastante para ela do que a filmagem. Cinco minutinhos. Alguns passos diante do júri. Nada
mais. E em caso de insucesso, o consolo de poder dizer-se que, entre todas as concorrentes, era a única que já tinha feito cinema. Uma profissional, de certo modo.
Não devíamos ser apanhados de surpresa e Meinthe nos propôs um ensaio geral, na sexta-feira à tarde, ao longo de uma grande aléia sombreada, atrás do hotel Alhambra.
Sentado numa cadeira de jardim, eu representava o júri. O Dodge avançava lentamente. Yvonne exibia um sorriso crispado, Meinthe dirigia com a mão direita. O cachorro
estava de costas para eles e se mantinha imóvel, de figura de proa.
Meinthe parou bem na minha frente e, apoiando-se com a mão esquerda na porta, num pulo nervoso, saltou por cima. Caiu com elegância, as pernas fechadas, o busto
erguido. Depois de esboçar uma saudação de cabeça, contornou o Dodge a passos miúdos e abriu com um gesto seco a porta de Yvonne. Ela saiu, segurando a coleira
do cão, e deu alguns passos tímidos. O dogue alemão mantinha a cabeça baixa. Retomaram seus lugares e Meinthe saltou de novo por cima da porta, para se recolocar
ao volante. Admirei sua agilidade.
57
Ele estava bastante decidido a repetir a façanha diante do júri. Iam ver a cara do Dudu Hendrickx.
Na véspera, Yvonne quis tomar champanhe. Teve um sono agitado. Era aquela menininha que quase chora antes de subir ao estrado no dia da festa da escola.
Meinthe tinha marcado encontro conosco no saguão às dez em ponto da manhã. A Taça começava ao meio-dia, mas ele precisava de tempo para acertar alguns detalhes:
exame geral do Dodge, conselhos diversos a Yvonne, e talvez também alguns exercícios de agilidade.
Fez questão de assistir aos últimos preparativos de Yvonne: ela hesitava entre um turbante rosa fúcsia e um grande chapéu de palha. "O turbante, querida, o turbante",
resolveu ele, excedendo-se na voz. Ela tinha escolhido um vestido tipo mantô em tecido branco. Meinthe, por sua vez, vestia um terno de xantungue cor de areia.
Eu me lembro das roupas.
Saímos, Yvonne, Meinthe, o cão e eu, debaixo do sol. Uma manhã de julho como nunca vi depois. Um vento ligeiro agitava a grande bandeira presa no topo de um mastro,
diante do hotel. Cores azul e ouro. A que país pertenciam?
Descemos na banguela o bulevar Carabacel. Os automóveis dos outros concorrentes já estavam estacionados, de cada lado da aléia muito larga que levava ao Sporting.
Ouviriam seus nomes e seu número graças a um alto-falante e deveriam logo se apresentar diante do júri. Este ficava na varanda do restaurante. Como a aléia terminava
num anel, num plano inferior, ele teria uma visão profunda da manifestação.
Meinthe tinha mandado eu me colocar o mais próximo possível dos jurados e observar o desenvolvimento da Taça nos mínimos detalhes. Eu tinha que vigiar principalmente
o rosto de Dudu Hendrickx enquanto Meinthe se desincumbia de seu número de altos volteios. Se houvesse necessidade, eu poderia fazer algumas anotações.
58
Esperávamos, sentados no Dodge. Yvonne, com a testa quase colada no retrovisor, verificava a maquiagem. Meinthe tinha posto estranhos óculos escuros de armação
de aço e batia no queixo e nas têmporas com o lenço. Eu acariciava o cachorro que nos lançava, a um de cada vez, olhares desolados. Estávamos parados ao lado de
uma quadra de tênis onde quatro jogadores - dois homens e duas mulheres - disputavam uma partida e, querendo distrair Yvonne, mostrei a ela que um dos tenistas
se parecia com o ator cômico francês Fernandel. "E se for ele?", sugeri. Mas Yvonne não me escutava. Suas mãos tremiam. Meinthe escondia sua ansiedade com uma tossida.
Ele ligou o rádio, que cobriu o barulho monótono e exasperante das bolas de tênis. Permanecíamos imóveis, os três, o coração batendo, escutando um noticiário.
Enfim o alto-falante anunciou: "Pede-se aos caros concorrentes à Taça Houligant de elegância que se preparem." E dois ou três minutos mais tarde: "Os concorrentes
número um, senhor e senhora Jean Hatmer!" Meinthe teve um ricto nervoso. Beijei Yvonne e lhe desejei boa sorte, e me dirigi por um desvio, rumo ao restaurante
do Sporting. Também me sentia bastante emocionado.
O júri estava atrás de uma fileira de mesas de madeira branca, cada uma munida de um guarda-sol verde e vermelho. Em toda a volta, um grande número de espectadores
se comprimia. Uns tinham a sorte de estar sentados, consumindo aperitivos, outros estavam de pé, em roupa de praia. Insinuei-me o mais próximo possível dos jurados,
como queria Meinthe, para vigiá-los.
Logo reconheci André de Fouquières, cuja fotografia eu tinha visto na capa de suas obras (os livros preferidos de meu pai. Ele os tinha recomendado e me deram
grande prazer). Fouquières usava um panamá, amarrado com uma fita de seda azul-marinho. Apoiava o queixo na palma da mão direita e seu rosto exprimia uma elegante
lassidão. Ele se entediava. Em sua idade, todos aqueles veranistas de biquínis e maiôs leopardo
59
lhe pareciam marcianos. Ninguém com quem falar de Émilienne d'Alençon ou de La Gandara. Com exceção de mim, se a ocasião se apresentasse.
O qüinquagenário de cabeça leonina, cabelos louros (pintava?) e pele queimada: Dudu Hendrickx, na certa. Falava sem parar com os vizinhos e ria alto. Tinha o olho
azul e emanava dele uma saudável e dinâmica vulgaridade. Uma mulher morena, de aspecto muito burguês, dirigia ao ex-esquiador sorrisos cúmplices: a presidente
do golfe de Chavoire ou a do departamento de turismo? A senhora Sandoz? Gamange (ou Gamonge), o homem do cinema, devia ser aquele sujeito de óculos de tartaruga
e roupas de cidade: jaquetão cruzado cinza com finas listras brancas. Se faço um esforço, aparece um personagem de cerca de cinqüenta anos, de cabelo cinza-azulado
ondulado e boca gulosa. Empinava o nariz no vento, e o queixo também, sem dúvida querendo parecer enérgico e tudo supervisionar, O subprefeito? Sr. Sandoz? E
o dançarino José Torres? Não, ele não tinha vindo.
Já um Peugeot 203 conversível cor grená avançava ao longo da aléia, parava no meio do anel e uma mulher num vestido bufante na cintura punha o pé no chão, com
um canicho anão debaixo do braço. O homem permanecia ao volante. Ela dava alguns passos diante do júri. Calçava sapatos pretos de salto agulha. Uma loura oxigenada,
como aquelas de que devia gostar o ex-rei Faruk do Egito, de que tantas me falou meu pai e cuja mão ele dizia ter beijado. O homem do cabelo cinza-azulado ondulado
anunciou: "Senhora Jean Hatmer", com uma voz dental, e sua boca moldava as sílabas desse nome. Ela soltou o canicho anão, que caiu sobre as patas, e andou mais
ou menos tentando imitar as modelos num desfile de alta costura: olhar vazio, cabeça flutuante. Em seguida, retomou seu lugar, no Peugeot. Aplausos tímidos. Seu
marido usava penteado à escova. Eu notei seu rosto tenso. Ele deu marcha à ré, depois uma hábil meia-volta e se via que para ele era questão de honra dirigir o
melhor possível. Deve ter lustrado ele mesmo seu Peugeot
60
para que brilhasse tanto. Decidi que se tratava de um casal jovem; ele, engenheiro, vindo de uma boa família burguesa, ela, de extração mais modesta: todos dois
muito esportivos. E, com meu hábito de tudo situar, imaginei-os morando num pequeno apartamento cosy da rua Docteur-Blanche, em Auteuil.
Sucederam-se outros concorrentes. Esqueci-os, ai de mim, com poucas exceções. Aquela eurasiana de trinta anos, mais ou menos, por exemplo, que acompanhava um homem
gordo e vermelho. Estavam num Nash conversível, cor verde água. Quando ela saiu do carro, deu um passo de autômato na direção do júri e parou. Foi tomada por um
tremor nervoso. Lançava olhares enlouquecidos a sua volta, sem mexer a cabeça. O gordo vermelho dentro do Nash a chamava "Monique... Monique... Monique..." e
poder-se-ia dizer que era um queixume, uma reza para domesticar um animal exótico e arisco. Ele saiu, por sua vez, e a puxou pela mão. Levou-a gentilmente ao assento.
Ela explodiu em soluços. Ele então deu a partida cantando pneu e ao virar só faltou varrer o júri. E aquele casal de sexagenários simpáticos cujos nomes gravei:
Jackie e Tounette Roland-Michel. Chegaram a bordo de um Studebaker cinza e se apresentaram juntos diante do júri. Ela, uma ruiva grande de rosto enérgico e cavalar,
de roupa de tênis. Ele, de estatura mediana, bigodinho, nariz importante, sorriso zombeteiro, físico de francês de verdade, como o imaginaria um produtor californiano.
Personalidades, com certeza, posto que o sujeito de cabelo cinza-azulado tinha anunciado: "Nossos amigos Tounette e Jackie Roland-Michel". Três ou quatro membros
do júri (entre os quais a mulher morena e Daniel Hendrickx) tinham aplaudido. Fouquières, de sua parte, sequer se deu o trabalho de honrá-los com um olhar. Eles
fizeram um cumprimento inclinando a cabeça, num movimento sincronizado. Comportaram-se bem e tinham os dois uma aparência muito satisfeita.
"Número 32. Senhorita Yvonne Jacquet e doutor René Meinthe." Pensei que fosse desmaiar. Em primeiro lugar, já não via mais nada, como se tivesse me levantado bruscamente,
61
depois de ter passado o dia inteiro deitado num sofá. E a voz que pronunciava seus nomes repercutia de todos os lados. Eu me apoiava no ombro de alguém, sentado
a minha frente, e me dei conta tarde demais de que se tratava de André de Fouquières. Ele se virou. Gaguejei umas desculpas moles. Impossível descolar minha mão
de seu ombro. Tive que me inclinar para trás, trazer pouco a pouco meu braço de volta contra o peito, crispando-me para combater um langor de chumbo. Não os vi
chegar no Dodge. Meinthe tinha parado o automóvel diante do júri. Os faróis estavam acesos. Meu mal-estar dava lugar a uma espécie de euforia e eu percebia as coisas
de maneira mais aguda que nos momentos normais. Meinthe buzinou três vezes e li nos rostos de diversos membros do júri um ligeiro espanto. O próprio Fouquières
pareceu interessado. Daniel Hendrickx sorria mas, em minha opinião, forçado. Aliás, aquilo era mesmo um sorriso? Não, chacota congelada. Eles não se moviam do
carro. Meinthe apagava e depois acendia outra vez os faróis. Aonde queria chegar? Pôs em movimento os limpadores de párabrisa. O rosto de Yvonne estava limpo, impenetrável.
E, de repente, Meinthe saltou. Um murmúrio percorreu o júri, os espectadores. Aquele salto não tinha comparação com o do "ensaio" da sexta-feira. Ele não se contentou
com passar por sobre a porta, mas pulou, ergueu-se no ar, jogou as pernas num movimento seco, caiu com agilidade, tudo num só impulso, numa só descarga elétrica.
E eu sentia tanta raiva, nervosismo e provocação quimérica naquilo que o aplaudi. Ele dava a volta em torno do Dodge, às vezes parando, congelando, como se andasse
por um campo minado. Todos os membros do júri observavam de boca aberta. Tinha-se a certeza de que ele corria perigo e quando, enfim, abriu a porta, alguns soltaram
um suspiro de alívio.
Ela saiu em seu vestido branco. O cachorro a seguiu, num salto preguiçoso. Mas ela não caminhou para lá e para cá na frente do júri como tinham feito as outras
concorrentes. Apoiouse na capota e ficou lá, a examinar Fouquières, Hendrickx, os outros, um sorriso insolente nos lábios. E num gesto imprevisível
62
arrancou o turbante e o jogou displicentemente para trás. Passou uma das mãos pelos cabelos para estendê-los sobre os ombros. O cachorro, por sua vez, pulou para
cima do Dodge e logo assumiu sua posição de esfinge. Ela o acariciava com a mão distraída. Meinthe, atrás, esperava ao volante.
Hoje, quando penso nela, é essa imagem que me vem com mais freqüência. Seu sorriso e seus cabelos ruivos. O cão branco e preto ao lado dela. O Dodge bege. E Meinthe,
que mal se distingue por trás do pára-brisa do automóvel. E os faróis acesos. E os raios de sol.
Lentamente, ela deslizou até a porta e a abriu sem tirar os olhos do júri. Retomou seu lugar. O cachorro saltou para o banco. de trás tão casualmente que me parece,
quando reconstituo essa cena em detalhe, vê-lo saltar em câmera lenta. E o Dodge - mas talvez não se deva confiar nas lembranças - sai do anel em marcha à ré.
E Meinthe (esse gesto também figura num filme tomado em câmera lenta) lança uma rosa. Ela cai sobre o paletó de Daniel Hendrickx, que a apanha e olha fixamente,
idiotizado. Não sabe o que fazer com ela. Nem ousa pô-la sobre a mesa. Enfim, dá uma gargalhada estúpida e a oferece a sua vizinha, a mulher morena cuja identidade
ignoro, mas que deve ser esposa do presidente do departamento de turismo, ou do presidente do golfe clube de Chavoires. Ou, quem sabe? Senhora Sandoz.
Antes de o carro entrar na aléia, Yvonne se vira e acena com o braço para os membros do júri. Acho até que ela manda um beijo a todos.
Eles deliberam em voz baixa. Três professores de natação do Sporting nos pediram delicadamente que nos afastássemos alguns metros, para não infringir o sigilo
da discussão. Os jurados tinham, cada um diante de si, uma folha onde figuravam o nome e o número dos diversos concorrentes. E tinham que pôr uma nota, à medida
que iam passando.
63
Eles rabiscam uma coisa qualquer em pedaços de papel, dobram-nos. Em seguida, fazem uma pilha dos boletins, Hendrickx os arruma e rearruma com as mãozinhas de
manicure que contrastam com a largura de seus ombros e sua grossura. Fica também encarregado do exame. Anuncia nomes e números: Hatmer, 14; Tissot, 16; Roland-Michel,
17; Azuelos, 12; mas é inútil atentar na escuta, não entendo a maioria dos nomes. O homem das ondulações e da boca gulosa inscreve os números numa caderneta. Eles
ainda entretêm um animado conciliábulo. Os mais veementes são Hendrickx, a mulher morena e o homem dos cabelos cinza-azulados. Este sorri sem cessar, para exibir
- suponho - uma carreira de dentes soberbos e lança a sua volta olhares que deseja serem charmosos: rápidas batidas de cílios com as quais busca parecer cândido
e maravilhado com tudo. Boca que avança, impaciente. Um gastrônomo, com certeza. E também o que na gíria se chama de "viciado". Deve existir uma rivalidade entre
ele e Dudu Hendrickx. Eles disputam as conquistas femininas, eu poderia jurar. Mas no momento, afetam o ar grave e responsável de membros de um conselho de administração.
Fouquières, por sua vez, se desinteressa completamente daquilo tudo. Rabisca sua folha de papel, com as sobrancelhas franzidas numa expressão de arrogância irônica.
O que vê? Com que cena do passado sonha? Com sua última entrevista com Lucie Delarue-Mardrus? Hendrickx se inclina para ele, muito respeitoso, e lhe faz uma pergunta.
Fouquières responde sem querer olhá-lo. Depois Hendrickx vai questionar Ganonge (ou Gamange), o "cineasta", sentado à última mesa à direita. Volta na direção
do homem de cabelos cinza-azulados. Eles têm uma breve altercação e os ouço pronunciar diversas vezes o nome "Roland-Michel". Enfim o "cinza-azul ondulado" - chamálo-ei
assim - avança na direção de um microfone e anuncia numa voz glacial:
- Senhoras e senhores, dentro de um minuto vamos dar os resultados desta Taça Houligant de elegância.
64
O mal-estar volta a tomar conta de mim. Tudo se embaça a minha volta. Pergunto-me onde podem estar Yvonne e Meinthe. Esperam no lugar onde os deixei, ao lado da
quadra de tênis? E se tivessem me abandonado?
- Por cinco votos a quatro - a voz do "cinza-azul ondulado" sobe, sobe. - Eu repito: por cinco votos a quatro para nossos amigos Roland-Michel (ele pronunciou nossos
amigos martelando as sílabas e sua voz está agora tão aguda quanto a de uma mulher), conhecidos e apreciados por todos e cujo espírito esportivo quero saudar...
e que teriam merecido - é o que penso, pessoalmente - levar esta taça da elegância... (ele deu um soco na mesa, mas sua voz ficava cada vez mais alquebrada)...
a taça foi concedida (ele faz uma pausa), à senhorita Yvonne Jacquet, que estava acompanhada do senhor René Meinthe... Confesso, eu tinha lágrimas nos olhos.
Eles tinham que se apresentar uma última vez diante do júri e receber a taça. Todas as crianças da praia tinham se reunido aos outros espectadores e esperavam,
superexcitadas. Os músicos da orquestra do Sporting tinham tomado seu lugar habitual, debaixo do grande dossel verde e branco, no meio do terraço. Afinavam os
instrumentos.
O Dodge surgiu. Yvonne estava meio inclinada sobre a capota. Meinthe dirigia lentamente. Ela pulou para o chão e avançou, muito timidamente, até o júri. Aplaudiram
muito.
Hendrickx desceu na direção dela brandindo a taça. Entregou-a a ela e a beijou nas duas bochechas. E depois outras pessoas vieram felicitá-la. O próprio André de
Fouquières apertou sua mão e ela não sabia quem era aquele velho senhor. Meinthe foi ter com ela. Percorria com o olhar o terraço do Sporting e logo me notou.
Gritou: "Victor... Victor" e fez sinais ostensivos para mim. Corri na direção deles. Estava salvo. Gostaria de beijar Yvonne, mas ela já estava cercada. Alguns
serventes,
cada um levando duas bandejas de taças de champanhe,
65
tentavam abrir passagem.A assembléia brindava, bebia, tagarelava sob o sol. Meinthe permanecia a meu lado, mudo e impenetrável atrás dos óculos escuros. A alguns
metros de mim, Hendrickx, muito agitado, apresentava a Yvonne a mulher morena, Gamonge (ou Ganonge) e duas ou três pessoas. Ela pensava em outra coisa. Em mim?
Eu não ousava acreditar.
Todo mundo ficava mais e mais alegre. Riam. Interpelavam-se, comprimiam-se uns contra os outros. O maestro da orquestra dirigiu-se a Meinthe e a mim para saber que
"peça" deveria executar em homenagem à taça e à "charmosa vencedora". Ficamos um instante atrapalhados, mas como provisoriamente eu me chamava Chmara e sentia
o coração cigano, pedi que tocassem Olhos negros,
Uma "noitada" na Sainte-Rose estava prevista, para festejar aquela quinta Taça Houligant e Yvonne, a vencedora do dia. Ela escolheu um vestido delamê ouro velho
para vestir.
Ela tinha posto a taça sobre a mesa de cabeceira, ao lado do livro de Maurois. Aquela taça era, na realidade, uma estatueta representando uma dançarina na ponta
do pé sobre uma pequena base onde tinham gravado em letras góticas: "Taça Houligant. 12 prêmio". Mais embaixo o número do ano.
Antes de ir, ela a acariciou com a mão, depois se pendurou em meu pescoço.
- Você não acha isso maravilhoso? perguntou. Quis que eu pusesse o monóculo e aceitei, pois aquela não era uma noite como as outras.
Meinthe usava um terno verde claro muito suave, muito fresco. Durante todo o trajeto até Voirens, zombou dos membros do júri. O "cinza-azul ondulado"chamava-se
Raoul Fossorié e dirigia o departamento de turismo. A mulher morena era casada com o presidente do clube de golfe de Chavoires: sim, na época, estava flertando
com aquele "boi gordo", o Dudu Hendrickx. Meinthe o detestava. Um personagem. dizia ele, que há trinta anos brincava graciosamente nas pistas de esqui. (Pensei
no herói de Liebesbriefe aufdem Berg, o filme de Yvonne); Hendrickx tinha feito em 1943 as belas noites de L'Équipe e do Chamais de Megève, mas hoje estava
chegando aos cinqüenta e cada vez mais se parecia com um "sátiro". Meinthe pontuava seu discurso com "Não é, Yvonne?" irônicos e carregados de subentendidos.
Por quê? E como Yvonne e ele tinham tanta familiaridade com aquela gente toda?
Quando aparecemos na pérgula da Sainte-Rose, umas palmas fracas saudaram Yvonne. Vinham de uma mesa de cerca de dez pessoas, entre as quais Hendrickx, no trono.
Este nos apontava. Um fotógrafo levantou-se e nos ofuscou com seu flash. O gerente, aquele chamado Pulli, puxava três cadeiras para nós, depois voltava e, com
muito zelo, estendia uma orquídea a Yvonne. Ela agradecia.
- Neste grande dia, a honra é minha, senhorita. E bravo! Ele tinha sotaque italiano. Curvava-se à frente de Meinthe. - Senhor?... - dizia-me ele, o sorriso enviesado,
sem dúvida incomodado por não poder me chamar pelo nome.
- Victor Chmara. - Ah... Chmara...? Aparentava surpresa e franzia as sobrancelhas. - Senhor Chmara...
- Sim. Lançava-me um olhar estranho. - Já já estarei à sua disposição, senhor Chmara... E se dirigia rumo à escada que levava ao bar do térreo. Yvonne estava
sentada ao lado de Hendrickx e nós nos encontrávamos, Meinthe e eu, em frente a eles. Eu reconhecia, entre meus vizinhos, a mulher morena do júri, Tounette e Jackie
Roland-Michel, um homem de cabelos grisalhos muito curtos e de rosto enérgico de ex-aviador ou militar: o diretor do clube de golfe, com certeza. Raoul Fossorié
estava no fim da mesa e mordiscava um palito de fósforo. As três ou quatro outras pessoas, entre as quais duas louras muito bronzeadas, eu estava vendo pela primeira
vez.
67
vv
Não havia muita gente, naquela noite, na Sainte-Rose. Ainda era cedo. A orquestra tocava uma canção que se ouvia muito e cuja letra um dos músicos sussurrava:
L'amour, c'est comme un jour Ça s 'en va, ça s 'en va L'amour
Hendrickx tinha envolvido com o braço direito as espáduas de Yvonne e eu me perguntava aonde queria chegar. Virava-me para Meinthe. Ele se escondia atrás de outro
par de óculos escuros, com armação maciça de tartaruga, e nervosamente tamborilava na tábua da mesa. Eu não ousava lhe dirigir a palavra.
- Então, contente de estar com sua taça? - perguntou Hendrickx com uma voz carinhosa.
Yvonne me lançava um olhar aborrecido. - Foi um pouco graças a mim... Mas claro, aquele devia ser um bom sujeito. Por que eu estava sempre desconfiando do primeiro
que aparecia?
- Fossorié não queria. Hein, Raoul? Você não queria... E Hendrickx caía na gargalhada. Fossorié dava uma tragada no cigarro. Afetava grande calma.
- Nada disso, Daniel, nada disso. Você está enganado... E moldava as sílabas de um modo que eu achava obsceno. "Hipócrita!", exclamava Hendrickx sem maldade alguma.
Essa réplica fazia rir a mulher morena, as duas louras bronzeadas (o nome de uma delas me volta de repente: Meg Devillers) e até o sujeito com cara de ex-oficial
da cavalaria. Os Roland-Michel, por sua vez, esforçavam-se por compartilhar a hilaridade dos outros, mas sem vontade. Yvonne me piscava o olho. Meinthe continuava
tamborilando.
- Seus favoritos - continuava Hendrickx - eram Jackie e Tounette... Hein, Raoul? - Depois, voltando-se para Yvonne:
Você devia apertar a mão dos nossos amigos Roland-Michel, Seus infelizes concorrentes...
68
Yvonne o fez. Jackie ostentava uma expressão jovial, mas Tounette Roland-Michel olhou Yvonne diretamente nos olhos. Parecia estar com raiva dela.
- Um de seus pretendentes? - perguntou Hendrickx. Ele me apontava.
- Meu noivo - respondeu arrogantemente Yvonne. Meinthe levantou a cabeça. A bochecha esquerda e a fenda dos lábios de novo foram tomadas pelos tiques.
- Tínhamos esquecido de lhe apresentar nosso amigo - disse ele numa voz afetada. - O conde Victor Chmara...
Pronunciara "conde" insistindo nas sílabas e fazendo uma pausa. Em seguida, voltando-se para mim:
- O senhor tem diante de si um dos ases do esqui francês: Daniel Hendrickx.
Este sorriu, mas senti que suspeitava das reações imprevisíveis de Meinthe. Com certeza o conhecia de longa data.
- É claro, meu caro Victor, o senhor é jovem demais para que este nome lhe diga alguma coisa - acrescentou Meinthe.
Os outros esperavam. Hendrickx se preparava para receber o golpe com fingida indiferença.
- Suponho que o senhor não era nascido quando Daniel Hendrickx ganhou a modalidade combinada...
- Por que o senhor diz coisas assim, René? - perguntou Fossorié num tom muito doce, muito oleoso, moldando ainda mais as sílabas, a tal ponto que se poderia esperar
que saíssem de sua boca aqueles doces puxa-puxa que se compra nas feiras.
- Eu estava lá quando ele ganhou o slalom e o combinado - declarou uma das louras bronzeadas, a que se chamava Meg Devillers - não faz tanto tempo...
Hendrickx deu de ombros e, como a orquestra tocava os primeiros compassos de uma música lenta, ele aproveitou para convidar Yvonne para dançar. Fossorié os seguiu,
acompanhado de Meg Devillers. O diretor do clube de golfe levou a outra loura bronzeada. E os Roland-Michel, por sua vez, avançaram
69
para a pista. Estavam de mãos dadas. Meinthe curvou-se diante da mulher morena:
- Então, nós também, vamos dançar um pouco... Fiquei sozinho à mesa. Não tirava os olhos de Yvonne e Hendrickx. De longe, ele tinha uma certa presença: media em
torno de um metro e oitenta, 85, e a luz que envolvia a pista azul, com uma pitada de rosa - adocicava seu rosto, apagava dele o empastamento e a vulgaridade.
Ele comprimia Yvonne. O que fazer? Quebrar-lhe a cara? Minhas mãos tremiam. Eu podia, é claro, beneficiar-me do efeito surpresa e lhe assentar um murro no meio
da cara. Ou então, me aproximaria por trás e lhe quebraria uma garrafa no crânio. Para quê? Em primeiro lugar me tornaria ridículo para Yvonne. E, depois, essa
conduta não correspondia a meu temperamento dócil, a meu pessimismo natural e a uma certa frouxidão minha.
A orquestra emendou outra música lenta e nenhum dos casais deixou a pista. Hendrickx apertava Yvonne ainda mais. Por que ela o deixava fazer aquilo? Eu espreitava
por uma piscadela que ela me lançasse às escondidas, um sorriso de conivência. Nada. Pulli, o gordo gerente aveludado, aproximou-se prudentemente de minha mesa.
Ficou bem a meu lado, apoiouse no espaldar de uma das cadeiras vazias. Queria falar comigo. A mim, aquilo aborrecia.
- Senhor Chmara... Senhor Chmara... Por educação, virei-me para ele. - Diga-me, o senhor é parente dos Chmara de Alexandria? Ele se debruçava, o olho ávido, e
entendi por que eu tinha escolhido esse nome, que eu achava que tinha saído de minha imaginação: ele pertencia a uma família de Alexandria, de que meu pai me
falava com freqüência.
- Sim. São meus parentes - respondi. - Então o senhor é originário do Egito? - Um pouco. Ele sorriu emocionado. Queria saber mais sobre isso, e eu poderia ter
lhe falado da vila de Sidi-Birsh onde passei alguns
70
anos da infância, do palácio de Abdine e do albergue das Pyram ides, de que guardo uma lembrança muito vaga. Perguntar-lhe, por outro lado, se ele era parente de
um dos conhecidos de meu pai, aquele Antonio Pulli, que tinha a função de confidente e de "secretário" do rei Faruk. Mas estava por demais ocupado com Yvonne e
Hendrickx.
Ela continuava a dançar com aquele sujeito velhusco que, com certeza, pintava o cabelo. Mas talvez ela o fizesse por uma razão precisa que me revelaria quando
estivéssemos sozinhos. Ou talvez, assim, por nada? E se tivesse me esquecido? Nunca senti muita confiança em minha identidade e o pensamento de que não mais me
reconheceria aflorou em mim. Pulli tinha se sentado no lugar de Meinthe:
- Conheci Henri Chmara, no Cairo... Nós nos encontrávamos todas as noites no Chez Groppi ou no Mena House.
Dir-se-ia que me confiava segredos de estado. - Espere... foi no ano em que o rei estava com aquela cantora francesa... Sabe?...
- Ah, sim... Falava cada vez mais baixo. Temia policiais invisíveis. - E o senhor, morou lá?... Os projetores que iluminavam a pista lançavam somente uma fraca
luz cor-de-rosa. Um instante, perdi de vista Yvonne e Hendrickx, mas voltaram a aparecer atrás de Meinthe, Meg Devillers, Fossorié e Tounette Roland-Michel. Esta
fez um comentário por cima do ombro do marido. Yvonne caiu na gargalhada.
- O senhor entende, não se pode esquecer o Egito... Não... Há noites em que me pergunto o que estou fazendo aqui...
Eu também, de repente me fazia aquela pergunta. Por que não fiquei nos Tilleuls lendo meus livros e minhas revistas de cinema? Ele pousou a mão no meu ombro.
-Não sei o que daria para estar na varanda do Pastroudis... Como esquecer o Egito?
- Nem deve existir mais - murmurei.
- O senhor acha mesmo? Lá, Hendrickx se aproveitava da meia penumbra e lhe passava a mão nas nádegas.
Meinthe voltava para nossa mesa. Sozinho. A mulher morena dançava com outro cavalheiro. Deixou-se cair sobre a cadeira.
- Do que estão falando? - Tinha tirado os óculos escuros e me olhava, sorrindo gentilmente: - Tenho certeza de que Pulli estava lhe contando suas histórias de Egito...
- O senhor Chmara é de Alexandria, como eu - declarou secamente Pulli.
- O senhor, Victor? Hendrickx tentava beijá-la no pescoço, mas ela o impedia. Ela se jogava para trás.
- Pulli tem esta boate há dez anos - dizia Meinthe. - No inverno trabalha em Genebra. Pois nunca conseguiu se acostumar com as montanhas.
Ele tinha notado que eu olhava Yvonne dançar e tentava desviar minha atenção.
- Se vier a Genebra no inverno - dizia Meinthe - vou ter que levá-lo nesse lugar, Victor. Pulli reconstituiu exatamente um restaurante que existia no Cairo. Como
é que se chamava mesmo?
- Le Khédival.
- Quando está lá, ele acha que ainda está no Egito e sente um pouco menos de saudade. Não é, Pulli?
- Montanhas de merda! "Não precisa ter saudade", cantarolava Meinthe. "Saudade jamais. Saudade jamais. Jamais."
Continuavam lá com outra dança; Meinthe se inclinou em minha direção:
Não dê atenção, Victor.
72
Os Roland-Michel reuniram-se a nós. Depois, Fossorié e a loura Meg Devillers. Enfim, Yvonne e Hendrickx. Ela veio sentar-se a meu lado e me segurou a mão. Portanto,
não tinha me esquecido. Hendrickx me examinava com curiosidade.
- Então, o senhor é noivo de Yvonne?
- É - disse Meinthe, sem me deixar tempo para responder. - E se tudo der certo, ela logo vai se chamar condessa Yvonne Chmara. O que acha?
Ele o provocava, mas Hendrickx continuava sorrindo.
- Soa melhor que Yvonne Hendrickx, não? acrescentou Meinthe.
- E o que faz esse moço na vida? perguntou Hendrickx num tom pomposo.
- Nada - disse eu, enfiando o monóculo em torno do olho esquerdo. - NADA, NADA.
- Você, sem dúvida, achava que esse moço fosse professor de esqui ou comerciante, como você? -continuava Meinthe.
- Cale a boca, ou quebro-o em mil pedaços - disse Hendrickx, e não se sabia se era ameaça ou brincadeira.
Yvonne, com a unha do indicador, arranhava a palma de minha mão. Pensava em outra coisa. Em quê? A chegada da mulher morena, de seu marido de rosto enérgico, e
a chegada simultânea da outra loura, nada distenderam a atmosfera. Cada um lançava olhares de viés em direção a Meinthe. O que ia fazer? Insultar Hendrickx? Jogar-lhe
um cinzeiro no rosto? Provocar um escândalo? O diretor do clube de golfe acabou dizendo, em tom de conversa social:
- O senhor continua praticando em Genebra, doutor? Meinthe respondeu com aplicação de bom aluno: - Com certeza, senhor Tessier. - É incrível como o senhor me
lembra seu pai... Meinthe deu um sorriso triste. - Oh. Não. Não diga isso... meu pai era bem melhor que eu. Yvonne apoiava seu ombro contra o meu e esse simples
contato me transtornava. E ela, quem era o pai dela? Se Hendrickx lhe tinha simpatia (ou melhor, se a apertava demais
73
ao dançar), eu notava que Tessier, sua mulher e Fossorié não prestavam atenção alguma nela. Os Roland-Michel também não. Cheguei a surpreender uma expressão de
divertido desprezo da parte de Tounette Roland-Michel depois que Yvonne apertou sua mão. Yvonne não pertencia ao mesmo mundo que eles. Ao contrário, pareciam
considerar Meinthe como igual e demonstravam para com ele certa indulgência. E eu? Não era, aos olhos deles, apenas um teenager ardendo de rock and roll? Talvez
não. Minha seriedade, meu monóculo e meu título nobiliário os intrigavam um pouco. Sobretudo a Hendrickx.
- O senhor foi campeão de esqui?- perguntei. - Foi - disse Meinthe - mas isso perde-se na noite dos tempos.
- Imagine - me disse Hendrickx , pousando a mão em meu antebraço - que conheci esse fedelho - ele apontava para Meinthe - quando ele tinha cinco anos. Ele brincava
de boneca.
Felizmente, estourou um cha-cha-cha naquele instante. Passava da meia-noite e os clientes chegavam às pencas. Acotovelavam-se na pista de dança. Hendrickx chamou
Pulli de longe:
- Vá nos buscar champanhe e avisar a orquestra. Piscava o olho para Pulli, que respondia com uma saudação vagamente militar, com o indicador acima da sobrancelha.
-Doutor, o senhor acha que aspirina é recomendável para problemas circulatórios? - perguntava o diretor do clube de golfe. Li algo no gênero na Ciência e Vida.
Meinthe não tinha escutado. Yvonne apoiava a cabeça em meu ombro. A orquestra parou. Pulli trazia uma bandeja, com taças e duas garrafas de champanhe. Hendrickx
se levantava e agitava o braço. Os casais que dançavam e os outros clientes voltaram-se para nossa mesa:
- Senhoras e senhores - clamava Hendrickx -, vamos beber à saúde da feliz ganhadora da Taça Houligant, senhorita Yvonne Jacquet.
Fazia sinal para Yvonne se levantar. Estávamos todos de
74
pé. Brindamos e como eu sentia os olhares fixos sobre nós, simulei um acesso de tosse.
- E agora, senhoras e senhores - continuou Hendrickx num tom enfático -, peço-lhes palmas para a jovem e deliciosa Yvonne Jacquet.
Ouviam-se "bravos" detonando a toda volta. Ela se comprimia de encontro a mim, intimidada. Meu monóculo tinha caído. Os aplausos se prolongavam e eu não ousava
me mover um centímetro. Fixava, diante de mim, a cabeleira volumosa de Fossorié, suas sábias e múltiplas ondulações que se entrecruzavam, aquela curiosa cabeleira
azul-cinza que se assemelhava a um elmo trabalhado.
A orquestra retomou a música interrompida. Um cha-chacha muito lento, em que se reconhecia o tema de Abril em Portugal.
Meinthe se levantou: - Se o senhor não vê inconveniente, Hendrickx (ele o chamava de senhor pela primeira vez), vou deixá-lo, bem como a esta elegante companhia.
- Voltou-se para Yvonne e para mim: - Levo vocês?
Respondi um "sim" dócil. Yvonne levantou-se, por sua vez. Apertou a mão de Fossorié e do diretor de golfe, mas não ousava mais cumprimentar os Roland-Michel nem
as duas louras bronzeadas.
- E para quando é esse casamento? perguntou Hendrickx, apontando para nós.
- Logo que tivermos deixado este sujo vilarejo francês de merda - respondi, muito rapidamente. Todos me olharam de boca aberta.
Por que falei de maneira tão estúpida e grosseira de um vilarejo francês? Ainda me pergunto e peço desculpas. Até Meinthe pareceu magoado por ter escutado aquilo
de mim.
- Vem - disse Yvonne, pegando-me pelo braço.
75
Hendrickx perdeu a voz e me examinou com os olhos arregalados. Sem querer, empurrei Pulli.
- O senhor está indo embora, senhor Chmara? Ele tentava me segurar, apertando-me a mão.
- Vou voltar, vou voltar disse a ele. - Oh, sim, por favor. Voltaremos a falar de todas essas coisas...
E fazia um gesto evasivo. Atravessamos a pista. Meinthe andava atrás de nós. Graças a um jogo de projetores, parecia que caía neve, em flocos grossos, sobre os
casais. Yvonne me levava e tínhamos dificuldade de abrir caminho.
Antes de descer a escada, quis dar uma última olhada na direção da mesa que deixamos.
Toda minha raiva tinha se dissipado e eu lamentava ter perdido o controle.
- Você vem? - disse Yvonne. - Você vem? - Em que está pensando, Victor? - perguntou Meinthe, e me batia no ombro.
Eu permanecia ali, no início da escada, hipnotizado outra vez pela cabeleira de Fossorié. Ela brilhava. Ele devia untá-la com uma espécie de Bakerfix fosforescente.
Quantos esforços e paciência para construir, toda manhã, aquela montagem cinza-azul.
No Dodge, Meinthe disse que tínhamos perdido burramente nossa noite. A culpa caía sobre Daniel Hendrickx que tinha recomendado a Yvonne que viesse com o pretexto
de que todos os membros do júri estariam lá, assim como diversos jornalistas. Nunca se devia acreditar naquele "porcalhão".
- Mas sim, minha querida, você sabe muito bem - acrescentava Meinthe, num tom exasperado. - Pelo menos ele lhe deu o cheque?
- É claro. E eles me revelaram os bastidores dessa noitada tão triunfal: Hendrickx tinha criado a Taça Houligant cinco anos antes.
76
Uma vez sim, outra não, ela era entregue no inverno, em L'Alpe d'Huez ou em Megève. Ele tinha tomado essa iniciativa por esnobismo (escolhia algumas personalidades
da vida social para compor o júri), para cuidar da publicidade (os jornais que falavam da taça citavam Hendrickx, relembrando suas proezas esportivas) e também
por gostar das moças bonitas. Com a promessa de obter a taça, qualquer idiota sucumbia. O cheque era de 800 mil francos. No meio de júri, Hendrickx fazia a lei.
Fossorié bem que gostaria que aquela "taça da elegância" que a cada ano obtinha um vivo sucesso dependesse um pouco mais do departamento de turismo. Daí aquela
rivalidade surda entre os dois homens.
- Pois bem, meu caro Victor - concluiu Meinthe -, o senhor vê como a província é mesquinha.
Ele se virou para mim e me gratificou com um sorriso triste. Nós tínhamos chegado à frente do Casino. Yvonne tinha pedido a Meinthe que nos deixasse lá. Voltaríamos
para o hotel a pé.
- Telefonem para mim amanhã, vocês dois. - Parecia desolado por ficar só. Pendurou-se por cima da porta: - E esqueçam essa noite ignóbil.
Depois deu a partida bruscamente, como se quisesse arrancar-se de nós. Pegou a rua Royale e me perguntei onde passaria a noite.
Durante alguns instantes, admiramos o jato d'água que mudava de cor. Aproximamo-nos o máximo possível e recebemos gotículas sobre o rosto. Empurrei Yvonne. Ela
se debatia gritando. Ela também quis me empurrar de surpresa. Nossas risadas ecoavam pela esplanada deserta.
Lá embaixo, os garçons da Taverne acabavam de arrumar as mesas. Em torno de uma hora da manhã. A noite estava quente e senti uma espécie de embriaguez pensando
que o verão mal começava e que ainda tínhamos à nossa
frente dias e dias para passarmos juntos, para passearmos à noite ou ficarmos no quarto ouvindo o bater felpudo e idiota das bolas de tênis.
77
No primeiro andar do Casino, as janelas envidraçadas estavam iluminadas: a sala de bacará. Percebiam-se vultos. Demos a volta nesse prédio sobre cuja fachada estava
escrito CASINO com letras redondas e passamos da entrada do Brummel, de onde saía música. Sim, naquele verão estavam no ar músicas e canções, sempre as mesmas.
Seguimos a avenida de Albigny pela calçada esquerda, a que ladeia os jardins da prefeitura. Alguns raros automóveis passavam nos dois sentidos. Perguntei a Yvonne
por que ela deixava Hendrickx lhe passar a mão nas nádegas. Ela respondeu que aquilo não tinha a menor importância. Era necessário que fosse gentil com Hendrickx,
pois a tinha feito ganhar a taça e lhe tinha dado um cheque de oitocentos mil francos. Eu disse que em minha opinião devia-se exigir bem mais do que oitocentos
mil francos para se deixar "meter a mão nas nádegas" e que, de todo modo, a Taça Houligant da elegância não tinha interesse algum. Nenhum. Ninguém sabia da existência
dessa taça, com exceção de alguns provincianos desvairados à beira de um lago perdido. Era grotesca, aquela taça. E lastimável. Hein? Em primeiro lugar, o que
se sabia de elegância naquele "buraco saboiano"? Hein? Ela respondeu, numa vozinha afetada, que achava Hendrickx "muito sedutor" e que estava contente de ter dançado
com ele. Eu disse - tentando pronunciar todas as sílabas, sem sucesso, eu comia a metade - que Hendrickx era teimoso e "subserviente" como todos os franceses.
- Mas você também é francês - me disse ela. - Não. Não. Não tenho nada á ver com os franceses. Vocês, os franceses, são incapazes de compreender a verdadeira nobreza,
a verdadeira...
Ela caiu na gargalhada. Eu não a intimidava. Então, declarei - e simulava uma frieza extrema - que no futuro seria de interesse dela não se vangloriar muito da
Taça Houligant de elegância, se não quisesse que rissem dela. Montes de meninas tinham ganho tacinhas ridículas como aquela antes de entrar
78
para a sombra do completo esquecimento. E quantas outras tinham rodado por acaso um filme sem valor, do gênero de Liebesbriefe auf dem Berg... A carreira cinematográfica
delas tinha parado aí. Muitas as chamadas. Poucas as eleitas.
- Você acha que esse filme não tem valor algum? - perguntou ela.
- Acho. Dessa vez, acho que ela sentiu. Andava sem dizer nada. Sentamo-nos no banco do chalé, esperando o funicular. Ela rasgava minuciosamente um velho papel
de cigarro. À medida que ia cortando, punha no chão os pedacinhos de papel, que tinham o tamanho de confetes. Fiquei tão enternecido com a aplicação dela que
lhe beijei as mãos.
O funicular parou antes de Saint-Charles Carabacel. Uma pane, aparentemente, mas àquela hora, ninguém mais iria consertar. Ela estava ainda mais apaixonada do que
de hábito. Pensei que devia me amar pelo menos um pouco. Algumas vezes olhávamos pelo vidro e nos víamos entre céu e terra, com o lago lá embaixo, e os telhados.
O dia vinha chegando.
Saiu, no dia seguinte, um grande artigo na terceira página do Eco da Liberdade.
O título anunciava: "TAÇA HOULIGANT DA ELEGÂNCIA CONCEDIDA PELA QUINTA VEZ".
"Ontem, no final da manhã, no Sporting, uma numerosa platéia acompanhou com curiosidade o desenrolar da quinta Taça Houligant de elegância. Os organizadores, tendo
entregue essa taça no ano passado em Megéve, durante a estação de inverno, preferiram que este ano ela fosse um acontecimento de verão. O sol não faltou ao encontro.
Nunca esteve tão radiante. A maior parte dos espectadores estava em trajes de banho. Notava-se entre eles o Sr. Jean Marchat da Comédie-Française que veio fazer
no teatro do Casino algumas apresentações de Escutem bem, senhores.
"O júri, como de costume, reunia personalidades as mais
79
diversas. Era presidido pelo Sr. André de Fouquières, que de bom grado pôs a serviço da Taça sua longa experiência: pode-se dizer, com efeito, que o Sr. de Fouquières,
tanto em Paris quanto em Deauville, Cannes ou Touquet, participou de e julgou a vida elegante desses últimos cinqüenta anos.
" À sua volta estavam sentados: Daniel Hendrickx, o célebre campeão e promotor da taça; Fossorié, do departamento de turismo; Gamange, cineasta; Sr. e Sra. Tessier,
do clube de golfe; Sr. e Sra. Sandoz, do Windsor; o senhor subprefeito R. A. Roquevillard. Lamentava-se a ausência do dançarino José Torres, que na última hora não
pôde vir.
" A maior parte dos concorrentes honrou a taça; o Sr. e a Sra. Jacques Roland-Michel, de Lyon, de férias, como todos os verões, em sua vila de Chavoires, foram
particularmente notados e vivamente aplaudidos.
" Mas a láurea foi entregue, após diversas rodadas de escrutínio, à senhorita Yvonne Jacquet, de 22 anos, radiante jovem de cabelos ruivos, vestida de branco e seguida
por um impressionante dogue. A senhorita Jacquet, por sua graça e irreverência, deixou no júri uma forte impressão.
" A senhorita Yvonne Jacquet nasceu em nossa cidade e aqui foi educada. Sua família é originária da região. Ela acaba de debutar no cinema, num filme rodado a
alguns quilômetros daqui por um diretor alemão. Desejamos à senhorita Jacquet, nossa compatriota, boa sorte e sucesso.
" Ela estava acompanhada pelo Sr. René Meinthe, filho do doutor Henri Meinthe. Esse nome despertará em algumas pessoas muitas lembranças. O doutor Henri Meinthe,
de antiga cepa saboiana, foi, com efeito, um dos heróis e mártires da Resistência. Uma rua da nossa cidade leva seu nome."
Uma grande fotografia ilustrava o artigo. Tinha sido tirada na Sainte-Rose, justamente no momento em que ali entrávamos. Estávamos de pé, os três, Yvonne e eu um
ao lado do outro, Meinthe, ligeiramente atrás. Embaixo, a legenda indicava: "Senhorita Yvonne Jacquet, Sr. René Meinthe e um de seus
80
amigos, o conde Victor Chmara." O clichê estava muito nítido, apesar do papel jornal. Yvonne e eu tínhamos um ar sério. Meinthe sorria. Nós fixávamos um ponto
no horizonte. Guardei comigo aquela fotografia durante vários anos antes de incluí-la entre outras recordações e, uma noite em que a olhava com melancolia, não
pude me impedir de escrever através dela, com lápis vermelho: "Reis por um dia".
VIII
- Um porto, o mais claro possível, minha pequena - repete Meinthe.
A garçonete não entende. - Claro? - Muito, muito claro. Mas disse isso sem convicção. Passa a mão sobre as bochechas mal barbeadas. Há 12 anos, barbeava-se
duas ou três vezes por dia. No fundo do porta-luvas do Dodge ficava um barbeador elétrico mas, dizia, esse aparelho de nada lhe servia, de tão dura que era sua
barba. Chegava a quebrar com ela as lâminas extra-azuis.
A garçonete retorna, com uma garrafa de Sandeman, e lhe serve um copo:
- Não tenho porto... claro. Cochichou "claro", como se tratasse de uma palavra vergonhosa.
- Não tem problema, minha pequena - responde Meinthe.
E ele sorri. Rejuvenesceu de repente. Sopra no copo e observa as listras na superfície do porto.
- Não teria um canudo, minha pequena?
82
Ela traz 'de má vontade, com o rosto emburrado. Não tem mais do que vinte anos. Deve dizer-se: "Até que horas esse bêbado vai ficar aqui? E o outro, lá no fundo,
com seu paletó xadrez?" Como todas as noites às 11 horas, ela acaba de substituir Geneviève, aquela que já encontrava lá no início dos anos sessenta e que, durante
o dia, tomava conta do bar do Sporting, perto das cabines. Uma loura graciosa. Tinha, ao que parece, um sopro no coração.
Meinthe voltou na direção do homem de casaco xadrez. Aquele paletó é o único elemento pelo qual pode atrair atenção sobre si. Fora isso, tudo é medíocre em seu
rosto: bigodinho preto, nariz bastante grande, cabelos castanhos puxados para trás. Ele que, um instante antes, tinha aparência de bêbado, mantém-se muito ereto,
com uma expressão de suficiência no canto dos lábios:
- Pode me pedir... a voz está pastosa e hesitante - o 233 em Chambéry...
A garçonete disca o número. Alguém responde do outro lado da linha. Mas o homem de casaco xadrez permanece, todo ereto, à mesa.
- Senhor, estou com a pessoa ao telefone - inquieta-se a garçonete.
Ele não se move um milímetro. Tem os olhos grandes abertos e o queixo ligeiramente para a frente.
- Senhor... Ele parece de mármore. Ela desliga. Deve estar começando a ficar inquieta. Esses dois clientes são mesmo estranhos... Meinthe acompanhou a cena de
sobrancelhas franzidas. Ao final de alguns minutos, o outro recomeça, numa voz ainda mais surda:
- Por favor, quer pedir... Ela dá de ombros. Então Meinthe se debruça sobre o telefone e disca ele mesmo o número. Quando escuta a voz, empurra o aparelho na direção
do homem de paletó xadrez, mas este não faz um movimento. Fixa Meinthe com os olhos grandes abertos.
83
- Vamos, senhor... - murmura Meinthe. - Vamos... Ele acaba pondo o aparelho no bar e sacode os ombros. - A senhora talvez esteja com vontade de ir dormir, minha
pequena - diz ele à garçonete. - Não quero lhe prender.
- Não. De todo modo, aqui fecha às duas da manhã... vai vir gente.
- Gente? - Está havendo um congresso. Eles vêm para cá. Ela se serve um Copo Coca-Cola. - Não é muito alegre aqui no inverno, hein? - constata Meinthe.
- Eu vou-me embora para Paris - ela diz, num tom agressivo.
- A senhora tem razão. O outro, atrás, estalou os dedos. - Eu queria outro dry, por favor - e depois acrescenta -, e o número 233 em Chambéry...
Meinthe disca outra vez o número e, sem se virar, põe o aparelho de telefone ao lado dele, num tamborete. A menina solta uma risada doida. Ele ergue a cabeça e
seus olhos pousam nas velhas fotografias de Émile Allais e de James Couttet, em cima das garrafas de aperitivos. Juntaram a elas uma fotografia de Daniel Hendrickx,
que morreu, há alguns anos, num acidente de automóvel. Com certeza uma iniciativa de Geneviève, a outra garçonete. Ela era apaixonada por Hendrickx no tempo em
que trabalhava no Sporting. No tempo da Taça Houligant.
84
IX
Essa taça, onde se encontra agora? No fundo de que estante? De que quarto de despejo? Nos últimos tempos, servia de cinzeiro. A base que sustentava a bailarina
tinha uma borda circular. Ali apagávamos nossos cigarros. Devemos tê-la esquecido no quarto do hotel e me surpreendo, eu, que sou ligado aos objetos, de não tê-la
trazido.
No início, no entanto, Yvonne parecia apreciá-la. Pôs bem em evidência na escrivaninha do salão. Era o princípio de uma carreira. Em seguida viriam as Victoires
e os Oscars. Mais tarde, viria a falar dela com carinho diante dos jornalistas - pois para mim não havia a menor dúvida de que Yvonne ia se tornar estrela de cinema.
Enquanto esperávamos, tínhamos pregado no banheiro o grande artigo do Eco da Liberdade.
Passávamos os dias no ócio. Levantávamo-nos bastante cedo. De manhã, freqüentemente havia bruma - ou melhor, um vapor azul que nos libertava das leis da gravidade.
Éramos tão leves, tão leves... Quando descíamos o bulevar Carabacel, mal tocávamos a calçada. Nove horas. O sol logo iria dissipar aquela bruma sutil. Nenhum
cliente, ainda, na praia do Sporting. Éramos os únicos seres vivos com um dos meninos do banho, vestido de branco, que cuidava das espreguiçadeiras e dos
85
guarda-sóis. Yvonne usava um maiô duas peças cor de opala e eu tinha tomado emprestada sua saída. Ela se banhava. Eu a olhava nadar. O cachorro também a seguia
com
os olhos. Ela me acenava e gritava, rindo, para que eu fosse ter com ela. Eu me dizia que aquilo tudo era muito bonito e que amanhã uma catástrofe ia acontecer.
No dia 12 de julho de 39, eu pensava, um sujeito do meu tipo, vestido de saída de banho com listras vermelhas e verdes, olhava sua noiva nadar na piscina do EdenRoc.
Ele tinha medo, como eu, de escutar rádio. Mesmo aqui, no cabo de Antibes, não escaparia da guerra... Em sua cabeça acotovelavam-se nomes de refúgios, mas não
teria tempo para desertar. Durante alguns segundos um terror inexplicável me invadia e depois ela saía da água e vinha deitar-se a meu lado para tomar um banho
de sol.
Por volta das 11 horas, quando as pessoas começavam a invadir o Sporting, refugiávamo-nos numa espécie de pequeno ancoradouro. Chegava-se ali da varanda do restaurante
por uma escada desmoronada que datava do tempo do senhor GordonGramme. Em baixo, uma praia de seixos e pedras; um chalé minúsculo, de uma só peça, com janelas,
postigos. Na porta tremulante, duas iniciais gravadas na madeira, em letras góticas: G-G - Gordon-Gramme - e a data: 1903. Com certeza, ele mesmo tinha construído
aquela casa de boneca e vindo recolher-se ali. Delicado e previdente Gordon-Gramme. Quando o sol batia muito forte, ficávamos uns instantes lá dentro. Penumbra.
Uma réstia de luz no umbral. Um ligeiro odor de mofo pairava, a que acabamos nos acostumando. Ruído- de ressaca, tão monótono e tranqüilizante como o das bolas
de tênis. Fechávamos a porta.
Ela se banhava e se esticava ao sol. Eu preferia a sombra, como meus ancestrais orientais. No início da tarde, voltávamos a subir ao Hermitage, e não deixávamos
o quarto, até as sete ou oito horas da noite. Havia uma sacada muito grande, no meio da qual Yvonne se deitava. Eu me instalava ao lado dela, com
86
um chapéu de feltro "colonial" branco - uma das raras lembranças que eu guardava de meu pai e de que eu gostava ainda mais porque estávamos juntos quando o comprou.
Foi na Sport e Climat, na esquina do bulevar Saint-Germain e da rua SaintDominique. Eu tinha oito anos e meu pai se preparava para viajar para Brazzaville. O que
ia fazer lá? Nunca me disse.
Eu descia ao saguão para buscar revistas. Por causa da clientela estrangeira, encontrava-se a maioria das publicações da Europa. Eu comprava todas: Oggi, Life,
Cinéronde, Der Stern, Confidential... Lançava um olhar oblíquo às manchetes dos diários. Coisas graves aconteciam na Argélia e também na metrópole e no mundo.
Eu preferia não saber. Dava nó na garganta. Desejava que não se falasse demais dessas coisas nas revistas ilustradas. Não. Não. Evitar os assuntos importantes.
De novo, o pânico me tomava. Para me acalmar, virava um Alexandra no bar e tornava a subir com minha pilha de revistas. Nós as líamos, espojando-nos na cama ou
no chão, diante da porta da sacada aberta, entre as manchas douradas que faziam os últimos raios de sol. A filha de Lana Turner tinha matado com uma facada o
amante da mãe. Errol Flynn morreu de ataque cardíaco e à jovem amiga que lhe perguntava onde podia jogar a cinza do cigarro, teve tempo de apontar a bocarra aberta
de um leopardo empalhado. Henri Garat tinha morrido, como um mendigo. E o príncipe Ali Khan também, num acidente de automóvel para os lados de Suresnes. Não me
lembro mais dos acontecimentos felizes. Recortávamos algumas fotografias e as pregávamos nas paredes do quarto. A direção do hotel não parecia se importar.
Tardes vazias. Horas lentas. Yvonne usava freqüentemente um robe de seda preto com bolas vermelhas, furado em alguns pontos. Eu esquecia de tirar meu velho chapéu
de feltro "colonial".
As revistas, meio rasgadas, cobriam o chão. Flocos de âmbar solar caíam por toda parte. O cachorro deitava atravessado numa poltrona. E nós púnhamos discos para
tocar no velho Teppaz. Esquecíamos de acender as lâmpadas.
87
Embaixo, a orquestra começava a tocar e chegavam os que iam jantar. Entre duas músicas, ouvíamos os murmúrios das conversas. Uma voz se destacava daquele zumbido
- voz de mulher - ou gargalhada. E a orquestra recomeçava. Eu deixava aberta a porta da sacada para que aquele zunzunzum e aquela música subissem até nós. Eles
nos protegiam. E além disso, tinham início todo dia à mesma hora e isso queria dizer que o mundo continuava a girar. Até quando?
A porta do banheiro recortava um retângulo de luz. Yvonne se maquiava. Eu, apoiado no balcão, observava aquela gente toda (a maioria em traje de noite), o vaivém
dos garçons, os músicos, de quem acabei conhecendo cada careta. Assim, o maestro se inclinava, com o queixo quase colado no peito. E quando a música acabava,
levantava bruscamente a cabeça, boca aberta, como um homem que estivesse se sufocando. O violinista tinha um rosto amável, um tanto porcino; fechava os olhos e
balançava a cabeça sorvendo o ar.
Yvonne estava pronta. Eu acendia uma lâmpada. Ela sorria para mim e fazia um olhar misterioso. Por divertimento, tinha vestido luvas negras que subiam até a metade
do braço. Estava de pé em meio à desordem do quarto, a cama desfeita, os robes e vestidos espalhados. Saíamos na ponta dos pés evitando o cão, os cinzeiros, o
toca-discos e os copos vazios.
Tarde da noite, quando Meinthe nos tinha levado ao hotel, escutávamos música. Nossos vizinhos mais próximos diversas vezes reclamaram do barulho que fazíamos.
Tratava-se de um industrial lionês - soube disso pelo porteiro - e sua mulher, que vi apertando a mão de Fossorié depois da Taça Houligant. Mandei entregarem
lá um buquê de peônias com este bilhete: "O conde Chmara, desolado, envia-lhes flores."
Quando voltávamos, o cão soltava gemidos queixosos e regulares e aquilo durava em torno de uma hora. Impossível
acalmá-lo. Então preferíamos pôr música para cobrir a voz dele. Enquanto Yvonne se despia e tomava um banho, eu lia para ela algumas páginas do livro de Maurois.
Não desligávamos o tocadiscos, que difundia uma canção frenética. Eu escutava vagamente os socos do industrial lionês na porta de comunicação e a campainha do
telefone. Ele deve ter avisado ao porteiro noturno. Talvez acabassem nos expulsando do hotel. Melhor. Yvonne tinha vestido sua saída de praia e preparávamos uma
refeição para o cachorro (para isso tínhamos uma pilha inteira de latas de conserva e até um escalfador). Esperávamos que depois de ter comido, se calasse. Conseguindo
vencer a voz estridente do cantor, a mulher do industrial lionês berrava: "Mas faça alguma coisa, Henri, faça alguma coisa. TELEFONE PARA A POLÍCIA..."A varanda
deles justapunha-se à nossa. Tínhamos deixado a porta da sacada aberta e o industrial, cansado de bater na parede, insultava-nos de fora. Yvonne então tirava o
roupão e saía na varanda, completamente nua, depois de ter posto as longas luvas negras. O outro a fixava, afogueado. A mulher o puxava pelo braço. Ela gritava:
"Ah, nojentos... puta..." Nós éramos jovens.
E ricos. A gaveta da mesa-de-cabeceira dela transbordava de cédulas. De onde vinha aquele dinheiro? Eu não ousava perguntar. Um dia, como estava arrumando os maços
um ao lado do outro, para poder fechar a gaveta, ela me explicou que era o cachê do filme. Tinha exigido que lhe pagassem em espécie e em notas de cinco mil francos.
Acrescentou que tinha recebido o cheque da Taça Houligant. Mostrava um pacote, embrulhado em papel jornal: oitocentas notas de mil francos. Preferia as notas
pequenas.
Ela gentilmente se propôs a me emprestar dinheiro, mas declinei da oferta. Estavam ainda no fundo das minhas malas oitocentos ou novecentos mil francos. Aquela
quantia eu tinha ganho vendendo a um livreiro de Genebra duas edições "raras" compradas em Paris por uma bagatela, numa loja de trocas.
89
Troquei, na recepção, as notas de cinqüenta mil francos por outras de quinhentos francos, que transportei numa bolsa de praia. Virei tudo em cima da cama. Ela
juntou as notas dela, formando uma pilha impressionante. Ficávamos maravilhados com aquele volume de notas que não tardaríamos a gastar. E eu reencontrava nela
meu gosto pelo dinheiro vivo, quero dizer, dinheiro ganho facilmente, maços que forram os bolsos, dinheiro louco que escorre pelos dedos.
Depois que o artigo saiu, eu fazia perguntas sobre a infância dela naquela cidade. Ela evitava responder, sem dúvida porque queria permanecer mais misteriosa e tinha
um pouco de vergonha de sua origem "modesta" nos braços do "conde Chmara". E, como minha verdade a tinha decepcionado, eu lhe contava as aventuras de meus parentes.
Meu pai tinha deixado a Rússia muito novo, com a mãe e as irmãs, por causa da Revolução. Passaram algum tempo em Constantinopla, Berlim e Bruxelas antes de se
instalar em Paris. Minhas tias foram modelos de Schiaparelli para ganhar a vida como muitas russas belas, nobres e brancas. Meu pai, aos 25 anos, partiu de veleiro
para a América onde se casou com a herdeira das lojas Woolworth. Depois divorciou-se, obtendo colossal pensão alimentar. De volta à França, conheceu mamãe, artista
irlandesa do music-hall. Eu nasci. Todos dois desapareceram a bordo de um avião de turismo, para os lados do Cap-Ferrat, em julho de 49. Eu tinha sido educado
por minha avó, em Paris, num apartamento térreo da rua Lord-Byron. Era isso.
Ela acreditava em mim? Pela metade. Ela tinha necessidade, antes de dormir, que eu lhe contasse histórias "maravilhosas" cheias de gente famosa e artistas de cinema.
Quantas vezes lhe descrevi os amores de meu pai e da atriz Lupe Velez na vila em estilo espanhol em Beverly Hills? Mas quando eu queria que ela, por sua vez,
me falasse de sua família, me dizia: " Oh... não é interessante..." E era, no entanto, a única coisa que faltava em minha felicidade: o relato de uma infância
e de uma adolescência passadas numa cidade de província. Como lhe
explicar que, a meus olhos de apátrida, Hollywood, os príncipes russos e o Egito de Faruk pareciam sem brilho, desbotados, diante daquele ser exótico e quase
inacessível: uma francesinha?
90
91
Aconteceu uma noite, simplesmente. Ela me disse: "Vamos jantar na casa de meu tio". Estávamos lendo revistas na varanda e a capa de uma delas - lembro-me - mostrava
a atriz de cinema inglesa, Belinda Lee, que tinha morrido num acidente de automóvel.
Vesti de novo meu terno de flanela e como o colarinho de minha única camisa branca estava completamente puído, enfiei uma pólo branca surrada que combinava com
minha gravata do International Bar Fly, azul e vermelha. Tive muito trabalho para dar nó nela porque a gola da pólo era mole demais, mas queria estar com a aparência
cuidada. Enfeitei meu casaco de flanela com um lenço de bolso azul-noite que tinha comprado por causa da cor profunda. Como calçado, hesitava entre os mocassins,
aos frangalhos, alpargatas ou uns Weston quase novos, mas com solas grossas de crepe. Optei por eles, julgando-os mais dignos. Yvonne me suplicou que eu pusesse
o monóculo: aquilo intrigaria o tio dela e ele me acharia "engraçado'. Mas eu justamente não queria isso de jeito nenhum. Desejava que aquele homem me visse como
eu era de verdade: um rapaz modesto e sereno.
Ela escolheu um vestido de seda branco e o turbante rosa fúcsia que tinha usado no dia da Taça Houligant. Maquiou-se
92
mais demoradamente do que de hábito. Seu batom era da mesma cor que o turbante. Enfiou as luvas, que subiam até a metade do braço, e eu achei aquilo curioso, para
ir jantar na casa do tio. Saímos, com o cachorro.
No saguão do hotel, algumas pessoas se espantaram com a nossa passagem. O cachorro ia à frente, desenhando seus movimentos de quadrilha. Aquilo acontecia quando
saíamos com ele em horas a que não estava habituado. Tomamos o funicular.
Seguimos a rua do Parmelan que prolonga a rua Royale. À medida que avançávamos, eu descobria uma outra cidade. Deixávamos para trás tudo aquilo que faz o encanto
artificial de uma estação termal, todo aquele pobre cenário de opereta onde um velhíssimo paxá egípcio no exílio acaba dormindo de tristeza. Lojas de alimentos
e de motocicletas substituíam as butiques de luxo. Sim, era curioso o número de lojas de motocicletas. Às vezes havia duas, uma ao lado da outra e, em exposição
na calçada, diversas Vespas de segunda mão. Passamos a estação da estrada. Um ônibus aguardava, com o motor ligado. No flanco, levava o nome da empresa e as etapas:
Sevrier-PringyAlbertville. Chegamos à esquina da rua do Parmelan e da avenida Maréchal-Leclerc. Essa avenida se chamava "MaréchalLeclerc" num pequeno trecho, pois
tratava-se da Nacional 201, que ia para Chambéry. Era ladeada de plátanos.
O cão tinha medo e andava o mais distante possível da estrada. O ambiente do Hermitage convinha melhor a sua silhueta lassa e sua presença na periferia despertava
curiosidade. Yvonne não dizia nada, mas o bairro lhe era familiar. Durante anos e anos fez com certeza o mesmo caminho, de volta da escola ou uma surprise party
na cidade (a expressão surpriseparty não convém. Ela ia ao "baile" ou ao "dancing"). E eu já tinha esquecido o saguão do Hermitage; ignorava aonde íamos, mas aceitava
antecipadamente viver com ela, na Nacional 201. Os vidros de nosso quarto tremiam à passagem dos caminhões
93
pesados, como aquele pequeno apartamento do bulevar Soult onde morei uns meses na companhia de meu pai. Eu me sentia leve. Só os sapatos novos me incomodavam um
pouco no calcanhar.
A noite tinha caído e, de cada lado, residências de dois ou três andares montavam guarda, pequenos prédios pintados de branco e com charme colonial. Prédios assim
existiam no bairro europeu em Túnis e até em Saigon. De espaço a espaço, uma casa em forma de castelo no meio de um jardim minúsculo me lembrava que nos encontrávamos
em Haute-Savoie.
Passamos na frente de uma igreja de tijolo e perguntei a Yvonne como se chamava: São Cristóvão. Gostaria que ela tivesse feito a primeira comunhão ali, mas não
fiz a pergunta, por temor de me decepcionar. Um pouco mais longe, o cinema se chamava Splendid. Com sua fachada bege sujo e portas vermelhas com vigias, parecia-se
com todos os cinemas que se encontra no subúrbio, quando se atravessa as avenidas Maréchalde-Lattre-de-Tassigny, Jean-Jaurès ou Maréchal-Leclerc, bem antes de
se entrar em Paris. Ali também, ela devia ir aos 16 anos. O Splendid mostrava naquela noite um filme da nossa infância: O prisioneiro de Zenda, e imaginei que
estávamos na bilheteria comprando dois ingressos para o balcão. Eu a conhecia por todo o sempre, aquela sala, via suas poltronas de espaldar de madeira e o painel
dos anúncios locais diante da tela: Jean Chermoz, florista, rua Sommeiller, 22. LAV NET, rua do Président-Favre, 17. Decouz, Rádios, TV, Hi-Fi, avenida de Allery,
23... Os cafés se sucediam. Por trás dos vidros do último, quatro rapazes com ondas nos cabelos jogavam totó. Mesas verdes estavam arrumadas ao ar livre. Os clientes
que ali se encontravam examinaram o cachorro com interesse. Yvonne tinha tirado as luvas compridas. Em suma, reencontrava seu ambiente natural e podia-se imaginar
que tinha posto o vestido de seda branco que usava para ir a uma festa nas vizinhanças ou a um baile de 14 de julho.
Ladeamos por quase cem metros uma cerca de madeira
94
escura. Cartazes de todo tipo estavam colados nela. Cartazes do cinema Splendid. Cartazes anunciando a festa da paróquia e a vinda do circo Pinder. Cabeça rasgada
pela metade de Luis Mariano. Antigas inscrições pouco legíveis: Libertem Henri Martin.. . Ridgway go honre... Argélia francesa... Corações partidos por uma flecha
com iniciais. Tinham instalado naquele local postes modernos de cimento, ligeiramente encurvados. Eles projetavam na cerca a sombra dos plátanos e suas folhagens
que sussurravam. Uma noite muito quente. Tirei o casaco. Estávamos diante da entrada de uma imponente garagem. À direita, numa pequena porta lateral, uma placa onde
estava gravado, em letras góticas: Jacquet. E um painel, onde li: "Peças avulsas para veículos americanos".
Ele nos esperava no cômodo do térreo que devia servir ao mesmo tempo de salão e sala de jantar. As duas janelas e a porta envidraçada davam para a garagem, um
imenso hangar.
Yvonne me apresentou indicando meu título nobre. Sentime incomodado, mas fiz parecer que achava aquilo perfeitamente natural. Ele virou-se para ela e perguntou,
num tom rabugento:
- Será que o conde gosta de escalope empanado? - Tinha um sotaque parisiense muito acentuado. - Porque fiz escalope para vocês.
Mantinha, ao falar, o cigarro, ou melhor, seu resto, no canto da boca e franzia os olhos. Sua voz era muito grave, enrouquecida, voz de alcoólatra ou de fumante
inveterado.
- Sentem-se... Ele nos apontou um sofá azulado junto à parede. Depois deu uns passinhos balanceados até à peça contígua: a cozinha. Ouviu-se o ruído de uma frigideira.
Retornou trazendo uma bandeja, que pôs sobre o braço do sofá. Três copos e um prato cheio daqueles biscoitos que chamam de línguas-de-gato. Estendeu os copos, a
Yvonne e a mim. Um líquido vagamente rosado. Sorriu para mim:
- Prove. Um coquetel do barril de Deus. Dinamite. Isso se chama... Dama Rosa... Prove...
95
Umedeci os lábios nele. Engoli uma gota. Logo tossi. Yvonne caiu na gargalhada.
- Você não devia dar isso a ele, titio Roland... Eu estava emocionado e surpreso de ouvi-la dizer titio Roland.
- Dinamite, hein? - disse ele, os olhos brilhando, quase arregalados.
- Tem que se acostumar. Ele se sentou na poltrona, estofada com o mesmo tecido azulado e gasto do sofá. Acariciava o cão, que dormitava a sua frente, e bebia
um gole de seu coquetel.
- Tudo bem? - perguntou ele a Yvonne. - Tudo. Ele balançou a cabeça. Não sabia mais o que dizer. Talvez não quisesse falar diante de alguém que acabava de conhecer.
Esperava que eu desse início à conversa, mas eu estava ainda mais intimidado do que ele e Yvonne nada fazia para desanuviar o mal-estar. Pelo contrário, tirou as
luvas da bolsa e as enfiava lentamente. Ele acompanhava com um olhar de viés aquela operação bizarra e interminável, com a boca um pouco amuada. Houve longos minutos
de silêncio.
Eu o observava às escondidas. O cabelo era castanho e espesso, a pele vermelha, mas grandes olhos negros e cílios muito longos davam àquele rosto pesado algo de
charmoso e lânguido. Devia ter sido bonito na juventude, de uma beleza um tanto rechonchuda. Os lábios, ao contrário, eram finos, espirituais, bem franceses.
Via-se que tinha cuidado da toalete para nos receber. Paletó de tweed cinza muito largo na altura dos ombros; camisa escura sem gravata. Perfume de lavanda. Eu
tentava encontrar nele algum traço de parentesco com Yvonne. Sem sucesso. Mas achava que conseguiria até o final da noite. Eu me poria à frente deles e os espiaria
simultaneamente. Acabaria percebendo algum gesto ou expressão que lhes fosse comum.
- E então, tio Roland, anda trabalhando muito? Ela fez essa pergunta num tom que me surpreendeu. Nele
96
se mesclavam uma ingenuidade infantil e a brusquidão que uma mulher pode ter para com o homem com quem ela vive.
- Oh, sim... essas porcarias de "americanos"... todos esses Studebaker de merda...
- Não têm graça, hein, titio Roland? Dessa vez, poder-se-ia dizer que falava com uma criança. -Não. Principalmente porque nos motores dessas porcarias de Studebaker...
Deixou a frase em suspenso, como se de repente se desse conta de que esses detalhes técnicos poderiam não nos interessar.
- Pois é... E você, tudo bem? - ele perguntou a Yvonne. - Tudo bem?
- Tudo, titio. Ela pensava em outra coisa. Em quê? - Perfeito. Se está, está... E se passássemos para a mesa? Ele tinha se levantado e pousava a mão em meu ombro.
- Ei, Yvonne, está me ouvindo? A mesa estava posta de encontro à porta envidraçada e às janelas que davam para a garagem. Uma toalha de quadrados azul-marinho
e brancos. Copos Duralex. Ele me apontou um lugar: o que eu tinha previsto. Eu estava de frente para eles. No prato de Yvonne e no dele, prendedores de guardanapo
de madeira, com seus nomes, "Roland" e "Yvonne", gravados em letras redondas.
Ele se dirigiu, em seu passo ligeiramente balanceado, para a cozinha e Yvonne aproveitou para me arranhar a palma da mão com a unha. Ele nos trouxe um prato de
salada "niçoise". Yvonne nos serviu.
- O senhor gosta, espero? E depois, dirigindo-se a Yvonne e separando as sílabas: - O con-de gos-ta mes-mo? Não discerni naquilo maldade alguma, mas uma ironia
e uma gentileza bem parisienses. Aliás, eu não entendia por que aquele "saboiano" (eu recordava a frase do artigo que dizia respeito a Yvonne: "Sua família é originária
da região") tinha o sotaque arrastado de Belleville.
97
Não, decididamente, não se pareciam. O tio não tinha a fineza dos traços, as mãos longas e o pescoço delicado de Yvonne. Ao lado dela, parecia mais massudo e taurino
do que quando estava sentado na poltrona. Eu bem que gostaria de saber de onde ela tinha tirado seus olhos verdes e seus cabelos ruivos, mas o infinito respeito
que tenho pelas famílias francesas e seus segredos me impedia de fazer perguntas. Onde estavam o pai e a mãe de Yvonne? Ainda viviam? O que faziam? Continuando
a observá-los com discrição encontrei, no entanto, em Yvonne e em seu tio os mesmos gestos. Por exemplo, o mesmo modo de segurar o garfo e a faca, o indicador um
tanto para a frente, a mesma lentidão para levar o garfo à boca e, por instantes, os mesmos olhos franzidos que lhes dava, a um e outro, pequenas rugas.
- E o senhor, o que faz na vida? - Ele não faz nada, titio. Ela não me deixou tempo para responder. - Não é verdade, senhor balbuciei. Não. Trabalho com... livros.
- ... Livros? Livros? Ele me olhava. O olho incrivelmente vazio. - Eu... Eu... Yvonne me encarava com um sorrisinho insolente. - Eu... eu estou escrevendo um
livro. É isso. Eu estava impressionado com o tom peremptório com que proferi essa mentira.
- O senhor está escrevendo um livro?... Um livro?... - Ele franzia as sobrancelhas e se inclinava um pouco mais em minha direção. - Um livro... policial?
Tinha uma aparência de alívio. Sorria. - Sim, um livro policial - murmurei -, um policial.
Um pêndulo soou na peça vizinha. Carrilhão rasgado, interminável. Yvonne escutava, com a boca entreaberta. O tio me
98
espiava, ele tinha vergonha daquela música intempestiva e degringolada que eu não conseguia identificar. E depois, bastou ele dizer: " O puto do Westminster ainda",
para que eu reconhecesse naquela cacofonia o carrilhão londrino, porém mais melancólico e mais inquietante do que o verdadeiro.
- Esse puto do Westminster ficou completamente louco. Soam as 12 badaladas a toda hora... Vou ficar doente com esse Westminster nojento... Se eu tivesse...
Falava dele como se fosse um inimigo pessoal e invisível.
- Está me escutando, Yvonne? - Mas eu lhe disse que pertencia à mamãe... Basta você me dar ele e não se fala mais disso...
Ele estava muito vermelho, de repente, e temi um acesso de cólera.
- Ele vai ficar aqui, está escutando... Aqui... - Está bem, titio, está bem... - Ela sacudiu os ombros. - Fique com ele, com seu pêndulo... o seu Westminster miniatura...
Virou-se para mim e piscou o olho. Ele, por sua vez, quis me fazer de testemunha.
- O senhor entende. Vai me ficar um vazio se eu não escutar mais essa porcaria de Westminster...
- Ele me lembra a infância - disse Yvonne -, não me deixava dormir...
E a visualizei na cama dela, apertando um urso de pelúcia com os olhos grandes abertos.
Ainda escutamos cinco notas em intervalos irregulares, com os soluços de um bêbado. Depois o Westminster calou-se, dir-se-ia que para sempre.
Respirei profundamente e me virei para o tio: - Ela morava aqui quando era pequena? Pronunciei a frase de uma maneira tão precipitada que ele não entendeu.
- Ele está perguntando se eu morava aqui quando era pequena. Está surdo, titio?
99
- Morava, claro. Lá em cima.
Mostrava o teto com o indicador.
- Vou lhe mostrar meu quarto daqui a pouco. Se ainda existir, hein titio?
- Mas é claro. Não mudei nada. Ele se levantou, pegou nossos pratos e talheres e foi para a cozinha. Voltou com pratos limpos e outros talheres.
- O senhor prefere bem passado? - perguntou.
- Como quiser. - Não. Como o senhor quiser, O SENHOR, conde. Enrubesci.
- Então, decida-se, bem passado ou malpassado? Eu já não conseguia pronunciar a mínima sílaba. Fiz um gesto vago com a mão, para ganhar tempo. Ele estava plantado
a minha frente, de braços cruzados. Examinava-me com uma espécie de estupefação.
- Diga aí, ele é sempre assim? - Sim, titio, sempre. Ele é sempre assim. Ele mesmo nos serviu escalopes e ervilha, especificando que se tratava de "ervilha fresca,
e não conserva". Serviu de beber também, mercurey, um vinho que ele só comprava para convidados "de classe".
- Então acha que é um convidado "de classe"? - perguntou-lhe Yvonne me designando.
- Mas é claro. É a primeira vez na minha vida que janto com um conde. O senhor é conde quem mesmo?
- Chmara - respondeu secamente Yvonne, como se estivesse aborrecida com ele por ter esquecido.
- É o quê esse Chmara? Português?
- Russo - gaguejei. Ele queria saber mais. - Por quê? O senhor é russo? Um cansaço infinito me tomou. Seria preciso de novo contar a Revolução, Berlim, Paris,
Schiaparelli, a América, a herdeira das lojas Woolworth, a avó da rua Lord-Byron... Não. Tive um enjôo.
100
- Está se sentindo mal? Ele pousou a mão em meu braço; era paternal. - Oh, não... Há muito tempo não me sinto tão bem... Pareceu espantado com essa declaração,
ainda por cima pelo fato de que pela primeira vez na noite eu tinha falado claramente.
- Vamos, tome um gole de mercurey...
- Você sabe, titio, você sabe... (ela fazia uma pausa e eu me aprumava, sabendo que o raio ia cair sobre mim) você sabe que ele usa monóculo?
- Ah, é? Não. - Põe o monóculo para mostrar a ele. Ela fez uma voz travessa. Repetiu com uma cantilena: "Põe o monóculo... põe o monóculo..."
Apalpei com a mão trêmula o bolso do paletó e, com lentidão de sonâmbulo, ergui o monóculo até o olho esquerdo. E tentei colocá-lo, mas os músculos não obedeciam
mais. Na terceira tentativa, o monóculo caiu. Eu sentia uma anquilose na altura da bochecha. Da última vez, ele caiu sobre a ervilha.
- Mas que merda - resmunguei. Eu começava a perder meu sangue frio e tinha medo de proferir uma dessas coisas terríveis que ninguém espera de um rapaz como eu.
Mas nada posso fazer, é um acesso que me dá.
- Quer experimentar? - perguntei ao tio, estendendolhe o monóculo.
Ele conseguiu na primeira tentativa, felicitei-o calorosamente. Ficava bem nele. Ele lembrava Conrad Veidt em Nocturno der Liebe. Yvonne morreu de rir. E eu também.
E o tio. Não conseguíamos mais parar.
- Tem de voltar - ele declarou. - Divertimo-nos muito os três. O senhor é muito engraçado.
- Isso é verdade - aprovou Yvonne. - O senhor também, o senhor é "engraçado" - disse eu. Eu quis acrescentar: reconfortante, porque sua presença, sua maneira
de falar, seus gestos me protegiam. Naquela sala
101
de jantar, entre Yvonne e ele, eu não tinha nada a temer. Nada. Eu era invulnerável.
- O senhor trabalha muito? - arrisquei. Ele acendeu um cigarro. - Oh, sim. Tenho que manter tudo isso sozinho... Fez um gesto na direção do hangar, por trás das
janelas. - Há muito tempo? Ele me estendia seu maço de Royales. - Começamos com o pai da Yvonne... Estava aparentemente espantado e tocado por minha atenção
e curiosidade. Não deviam lhe fazer freqüentemente perguntas sobre ele e seu trabalho. Yvonne tinha virado a cabeça e estendia um pedaço de carne ao cachorro.
- Compramos isso da empresa de aviação Farman... Tornamo-nos concessionários da Hotchkiss para toda a região... Trabalhávamos com a Suíça no caso dos carros de
luxo...
Emitia as frases muito depressa e quase à meia-voz, como se temesse que alguém o fosse interromper, mas Yvonne não prestava a menor atenção nele. Falava com o
cachorro e o acariciava.
- Ia bem, com o pai dela... Ele tragava o cigarro, que segurava entre o polegar e o indicador.
- Isso lhe interessa? É tudo passado, tudo... - O que está contando a ele, titio? - Do início da garagem com seu pai... - Mas o está aborrecendo... Havia uma
ponta de maldade na voz dela. - De modo algum - disse eu. - De modo algum. O que aconteceu com seu pai?
Essa pergunta me tinha escapado e eu não podia mais voltar a máquina atrás. Um aborrecimento. Notei que Yvonne franziu as sobrancelhas.
- Albert... Ao pronunciar esse nome, o tio fez um olhar ausente. Depois bufou.
102
- Albert teve uns problemas... Compreendi que não ficaria sabendo de mais nada por ele e me surpreendi por ele já me ter confiado tantas coisas.
- E você? - Ele apoiava a mão contra o ombro de Yvonne. - As coisas estão indo como você quer?
- Estão. A conversa ia atolar. Então, decidi partir para o ataque. - O senhor sabe que ela vai se tornar uma atriz de cinema?
- O senhor acredita mesmo? - Tenho certeza. Ela me soprava com gentileza a fumaça do cigarro no rosto.
- Quando ela me disse que ia fazer um filme, não acreditei. Então é verdade... Você terminou seu filme?
- Terminei, titio. - Quando poderemos vê-lo? - Vai sair dentro de três ou quatro meses - declarei.
- Vai passar aqui? Ele estava cético. - Com certeza. No cinema do Casino - eu falava num tom cada vez mais firme. - O senhor vai ver.
- Então, teremos que comemorar... Diga-me... Acha que é de fato uma profissão?
- Mas é claro. Além disso, ela vai continuar. Vai fazer outro filme.
Eu mesmo estava espantado com a veemência de minha afirmação.
- E vai tornar-se uma estrela de cinema, senhor. - Verdade? - Mas é claro, senhor. Pergunte a ela. - É verdade, Yvonne? Sua voz estava um tanto zombeteira.
- Sim, tudo o que Victor diz é verdade, titio. - O senhor vai ver que tenho razão.
103
Dessa vez, eu usava um tom adocicado, parlamentar, e tinha vergonha disso, mas aquele assunto me era muito caro e para falar dele eu buscava, por todos os meios,
vencer minhas dificuldades de elocução.
- Yvonne tem um enorme talento, acredite. Ela acariciava o cão. Ele me observava, seu resto de Royale no canto dos lábios. De novo, aquela sombra de inquietude,
aquele olhar absorto.
- O senhor acha mesmo que é uma profissão? - A mais bela profissão do mundo, senhor. - Muito bem, espero que você chegue lá - disse ele gravemente a Yvonne. -
Afinal de contas, você não é mais burra do que outra...
- Victor me dará bons conselhos, hein, Victor? Ela me dirigia um olhar terno e irônico. - O senhor soube que ela ganhou a Taça Houligant? - perguntei ao tio.
- Hein?
- Para mim foi uma surpresa, quando li no jornal. - Ele hesitou um instante. - Diga-me, é importante essa Taça Houligant?
Yvonne escarneceu. - Pode servir de trampolim - declarei, limpando meu monóculo.
Ele nos propôs bebermos o café. Sentei-me no velho sofá azulado enquanto Yvonne e ele tiravam a mesa. Yvonne cantarolava transportando os pratos e talheres para
a cozinha. Ele fazia correr a água. O cachorro tinha adormecido a meus pés. Revejo essa sala de jantar com precisão. O papel da parede tinha três motivos: rosas
vermelhas, hera e passarinhos (não sei dizer se eram melros ou pardais). Papel de parede um tanto desbotado, bege ou branco. O lustre circular era de madeira e
munido de uma dezena de lâmpadas com abajur em pergaminho. Luz de âmbar, quente. Na parede um quadrinho sem moldura representava um bosque e admirei a maneira como
o pintor tinha recortado as árvores sobre um céu claro de crepúsculo
104
e a mancha de sol que se demorava ao pé de uma árvore. Esse quadro contribuía para tornar a atmosfera do cômodo mais pacífica. O tio, por um fenômeno de contágio,
que nos faz, quando se escuta uma melodia conhecida, cantá-la também, cantarolava junto com Yvonne. Eu me sentia bem. Gostaria que a noite se prolongasse indefinidamente
para que eu pudesse observar durante horas as idas e vindas deles, os gestos graciosos de Yvonne e seu andar indolente, e o do tio, balanceado. E ouvilos murmurar
o refrão da canção, que eu mesmo não ouso repetir, porque me lembraria o instante tão precioso que vivi.
Ele veio sentar-se no sofá, a meu lado. Buscando continuar a conversa, mostrei-lhe o quadro:
- Muito bonito... - Foi o pai da Yvonne que fez... sim... Aquele quadro devia estar no mesmo lugar há muitos anos, mas ele ainda se maravilhava com a idéia de
que o irmão era o autor.
- Albert tinha uma bela pincelada... O senhor pode ver a assinatura embaixo, à direita: Albert Jacquet. Era um sujeito estranho, meu irmão...
Eu ia formular uma pergunta indiscreta, mas Yvonne saía da cozinha trazendo a bandeja do café. Ela sorria. O cão se espreguiçava. O tio tossia com a ponta do cigarro
na boca. Yvonne se enfiou entre mim e o braço do sofá e pousou a cabeça contra meu ombro. O tio servia o café limpando a garganta e dir-se-ia que rugia. Ele estendia
um açúcar ao cão, que o pegava delicadamente entre os dentes, e eu já sabia que ele não partiria o torrão de açúcar, mas o chuparia, os olhos perdidos no vazio.
Ele jamais mastigava a comida.
Eu não tinha notado uma mesa atrás do sofá, sobre a qual havia um aparelho de rádio de tamanho médio e de cor branca, um modelo a meio caminho entre o aparelho
clássico e o transistor. O tio virou o botão e logo uma música tocou em surdina. Bebíamos, cada um, nosso café, em pequenos goles. O tio de vez em quando apoiava
a nuca contra o espaldar do sofá e fazia
105
argolas de fumaça. Fazia-as bem. Yvonne escutava a música e marcava o compasso com o indicador preguiçoso. Ficamos lá, sem nos dizer nada, como gente que se conhece
desde sempre, três pessoas da mesma família,
- Você devia mostrar a casa para ele - murmurou o tio. Ele tinha fechado os olhos. Levantamo-nos, Yvonne e eu. O cão nos lançou um olhar sorrateiro, levantou-se,
por sua vez, e nos seguiu. Encontrávamo-nos à entrada, ao pé da escada, quando o Westminster soou outra vez, mas de modo mais incoerente e brutal do que da primeira,
tanto que me veio ao espírito a imagem de um pianista doido dando socos e cabeçadas no teclado. O cachorro, aterrorizado, galgou a escadaria e ficou nos esperando
lá em cima. Uma lâmpada pendia do teto e lançava uma luz amarela e fria. O rosto de Yvonne parecia ainda mais pálido em função do turbante rosa e do batom. E eu,
debaixo daquela luz, senti-me inundado de pó de chumbo. A direita, um armário com espelho. Yvonne abriu a porta a nossa frente. Um quarto cuja janela dava para
a Nacional, pois ouvi o barulho abafado de diversos caminhões que passavam.
Ela acendeu a lâmpada de cabeceira. A cama era muito estreita. Aliás, restava apenas o colchão. Em torno dele corria uma prateleira e o conjunto formava um cosy
comer. No canto esquerdo, uma pia minúscula encimada por um espelho. Contra a parede um armário de madeira branco. Ela sentou-se na beira do colchão e me disse:
- Este era meu quarto. O cachorro tinha se instalado no meio de um tapete tão gasto que já não se distinguiam seus motivos. Levantou-se ao cabo de um instante
e saiu do quarto. Eu escrutinei as paredes, inspecionei as prateleiras, esperando descobrir um vestígio da infância de Yvonne. Fazia muito mais calor do que nas
outras peças e ela tirou o vestido. Deitou-se atravessada no colchão. Estava usando ligas, meias, sutiã, tudo aquilo com que as mulheres ainda se estorvavam. Abri
o armário de madeira branca. Talvez houvesse algo lá dentro.
106
- O que está procurando? perguntou ela, apoiando-se nos cotovelos.
Ela franzia os olhos. Reparei numa pequena pasta no fundo da prateleira. Peguei-a e me sentei no chão com as costas apoiadas no colchão. Ela pousou o queixo no
oco de meu ombro e me soprou no pescoço. Eu abri a pasta, enfiei a mão lá dentro e trouxe um velho lápis pela metade que terminava numa borracha cinzenta. O interior
da pasta soltava um odor repulsivo de couro e também de cera - parecia. Numa primeira noite de férias longas, Yvonne a tinha fechado definitivamente.
Ela apagou a luz. Por que cargas d'água estava eu ao lado dela, sobre aquele colchão, naquele quartinho desativado?
Quanto tempo ficamos lá? Impossível confiar no carrilhão cada vez mais louco de Westminster que tocou três vezes à meianoite com alguns minutos de intervalo. Eu
me levantei e na meia penumbra vi que Yvonne se virava para o lado da parede. Talvez estivesse com vontade de dormir. O cão se encontrava no patamar da escada,
em posição de esfinge, na frente do espelho do armário. Ali se contemplava num tédio soberano. Quando passei, não se moveu. Tinha o pescoço muito reto, a cabeça
ligeiramente erguida, as orelhas em pé. Quando cheguei ao meio da escada, ouvi-o bocejar. E sempre aquela luz fria e amarela que descia da lâmpada e me entorpecia.
Pela porta entreaberta da sala de jantar, saía uma música límpida e gelada, dessas que muitas vezes se escuta no rádio, à noite, e que faz pensar num aeroporto
deserto. O tio escutava, sentado na poltrona. Quando entrei, virou a cabeça em minha direção:
- Tudo bem? - E o senhor? - Comigo, tudo bem - ele respondeu. - E o senhor? - Tudo bem. - Podemos continuar, se quiser... Tudo bem? Ele olhava para mim, com
o sorriso congelado, o olho
107
pesado, como se estivesse diante de um fotógrafo que fosse tirar seu retrato.
Estendeu-me o maço de Royale. Risquei quatro fósforos sem sucesso. Enfim, consegui uma chama que aproximei cuidadosamente da ponta do cigarro. E traguei. Tinha
a impressão de fumar pela primeira vez. Ele me espiava, de sobrancelhas franzidas.
- O senhor não é um trabalhador manual - constatou, muito sério.
- Lamento. - Mas por que, meu velho? Acha que é divertido mexer com motor?
Ele olhava as mãos. - Às vezes, deve dar satisfações - disse eu. - Ah, sim? O senhor acha? - Afinal, é uma bela invenção, o automóvel... Mas ele já não me escutava.
A música acabou e o locutor - tinha entonações ao mesmo tempo inglesas e suíças e eu me perguntava qual era sua nacionalidade - pronunciou essa frase, que me ocorre
ainda, depois de tantos anos, repetir em voz alta quando estou sozinho, passeando: "Senhoras e senhores, termina a emissão da Genève-Musique. Até amanhã. Boa noite."
O tio não fez qualquer gesto para virar o botão do aparelho e como eu não ousava intervir, escutava um chiado contínuo, um ruído de parasitas que terminava se
assemelhando ao barulho do vento nas folhagens. E a sala de jantar era invadida por algo fresco e verde.
- É uma boa menina, Yvonne. Ele soltou uma argola de fumaça bastante bem-feita. - É muito mais que uma boa menina respondi. Ele me fixou diretamente os olhos.
com interesse, como se eu acabasse de dizer algo fundamental.
- E se andássemos um pouco? - propôs. - Minhas pernas estão formigando. Levantou-se e abriu a porta da sacada. - Não tem medo?
Mostrava-me com a mão o hangar, cujos contornos se diluíam na escuridão. Distinguia-se, a intervalos regulares, o pequeno luar de uma lâmpada.
- Assim, o senhor vai visitar a garagem... Mal pus o pé na borda daquele imenso espaço negro, senti um cheiro de essência, cheiro que sempre me emocionou - sem
que eu consiga saber por que razões exatas - cheiro tão doce de se respirar quanto o do éter e do papel prateado que envolveu um tablete de chocolate. Ele tinha
me segurado o braço e andávamos por zonas cada vez mais escuras.
- Sim, Yvonne é uma menina estranha... Ele queria puxar conversa. Girava em torno de um assunto que lhe era caro e que com certeza não tinha abordado com muita
gente. Afinal de contas, talvez o estivesse abordando pela primeira vez.
- Estranha, mas muito atraente - disse eu. E em meu esforço para pronunciar uma frase inteligível, meu timbre estava um tanto alto, uma voz de falsete de uma
afetação inaudita.
- Veja o senhor... - Ele hesitava uma última vez antes de se abrir, apertava meu braço. - Ela lembra muito o pai... Meu irmão era um porra-louca...
Avançamos em linha reta. Eu me acostumava pouco a pouco com a escuridão que uma lâmpada furava a cada vinte metros mais ou menos.
- Ela me deu muita preocupação, Yvonne. Ele acendeu um cigarro. De repente, não o via mais, e como tinha me largado o braço, eu me guiava pela ponta incandescente
de seu cigarro. Ele acelerou o passo e tive medo de perdê-lo.
- Digo-lhe isso porque você tem um jeito bem-educado...
Eu dava uma tossidinha. Não sabia o que responder. - O senhor é de boa família, o senhor... - Oh, não... - eu disse.
109
Ele andava a minha frente e eu seguia com o olhar a ponta vermelha do cigarro. Nenhuma lâmpada nas redondezas. Eu estendia os braços à frente, para não dar de
encontro a uma parede.
- Esta é a primeira vez que Yvonne encontra um moço de boa família...
Riso breve. Numa voz muito surda: - Hein, companheiro? Ele me apertou o braço com muita força, à altura do bíceps. Estava à minha frente. Eu via de novo a ponta
fosforescente do cigarro. Não nos mexíamos.
- Ela já fez tanta bobagem... Ele suspirou. - E agora, com essa história de cinema...
Eu não o via, mas raramente tinha sentido num ser tanta prostração e resignação.
- De nada adianta chamá-la à razão... É como o pai... Como Albert.
Puxou-me pelo braço e retomamos a caminhada. Apertava-me o bíceps cada vez com mais força.
- Estou lhe falando disso tudo porque o acho simpático... e bem-educado...
O ruído de nossos passos ressoava por toda aquela extensão. Não entendi como ele conseguia se orientar no escuro. Se me faltasse, não haveria a menor possibilidade
de eu encontrar o caminho.
- E se voltássemos para casa? eu disse. - O senhor veja, Yvonne sempre quis viver acima dos seus meios... E é perigoso... muito perigoso...
Tinha me soltado o bíceps e, para não perdê-lo, eu apertava entre os dedos a aba de seu paletó. Ele não se incomodava.
- Aos 16 anos se virava para comprar quilos de produtos de beleza...
Ele acelerava a marcha, mas eu continuava segurando a aba de seu paletó.
- Ela não queria freqüentar o pessoal do bairro... Preferia os veranistas do Sporting... Como o pai...
110
Três lâmpadas, uma ao lado da outra, acima de nossas cabeças, ofuscaram-me. Ele bifurcava para a esquerda e acariciava a parede com a ponta dos dedos. O ruído seco
de um interruptor. Uma luz muito forte a nossa volta: o hangar estava inteiramente iluminado por projetores fixos no teto. Parecia ainda mais vasto.
- Desculpe, meu amigo, mas só podíamos acender os projetores aqui...
Encontrávamo-nos no fundo do hangar. Alguns carros americanos alinhados um ao lado do outro, um velho ônibus Chausson com os pneus arrebentados. Eu observava,
à nossa esquerda, um ateliê envidraçado que parecia uma estufa e perto do qual estavam dispostos num quadrado caixotes de plantas verdes. Naquele espaço, tinham
jogado cascalho e a hera subia pelo muro. Havia até mesmo um caramanchão, uma mesa e cadeiras de jardim.
- O que acha da minha baiúca, hein, companheiro? Juntamos as cadeiras à mesa do jardim e nos sentamos um à frente do outro. Ele apoiava os dois cotovelos na mesa,
com o queixo nas palmas das mãos. Parecia exausto.
- É aqui que descanso quando estou cheio de mexer com motor... É o meu jardim...
Ele me apontava os carros americanos e depois o ônibus Chausson, atrás.
- Está vendo essas ferragens ambulantes? Fazia um gesto excessivo, como se caçasse uma mosca.
- É terrível não gostar mais do próprio ofício. Eu esboçava um sorriso incrédulo. - Vamos... - E o senhor, ainda gosta de sua profissão? - Sim - disse eu, sem
saber muito bem de que profissão se tratava.
- Na sua idade, se é cheio de entusiasmo... Ele me envolvia com um olhar terno que me comovia. - Cheio de entusiasmo - repetia à meia voz.
111
Ficamos lá, em torno da mesa do jardim, tão pequenos naquele hangar gigantesco. Os caixotes de plantas, a hera e o cascalho compunham um oásis imprevisto. Protegiam-nos
da desolação ambiente: o conjunto de automóveis na expectativa (um deles tinha uma aba a menos) e o ônibus que apodrecia ao fundo. A luz que os projetores difundiam
era fria, mas não amarela como na escada e no corredor que tínhamos atravessado Yvonne e eu. Não. Ela tinha algo de cinza-azulado, aquela luz. Cinza-azulado gelado.
- O senhor quer hortelã? É só o que tenho aqui... Dirigiu-se ao ateliê envidraçado e voltou com dois copos, a garrafa de menta e uma jarra d'água. Brindamos.
- Há dias, meu velho, em que me pergunto o que estou fazendo nessa garagem...
Decididamente, ele sentia necessidade de desabafar naquela noite.
- É grande demais para mim. Varria com o braço toda a extensão do hangar. - Em primeiro lugar, foi Albert que nos deixou... E depois minha mulher... E agora é
Yvonne...
- Mas ela vem sempre ver o senhor - adiantei. -Não. A senhorita quer fazer filmes... Pensa que é Martine Carol...
- Mas ela vai se tornar uma nova Martine Carol - respondi, numa voz firme.
- Vamos... Não diga bobagens... Ela é preguiçosa demais...
Um gole do refresco de hortelã tinha descido mal e ele se sentia estrangulado. Tossia. Não conseguia mais parar e estava ficando vermelho. Ia com certeza sufocar.
Eu lhe dava grandes tapas nas costas até que a tosse se acalmou. Ergueu para mim os olhos cheios de benevolência.
- Não vamos ficar de mau humor... hein, meu amigo? Sua voz estava mais pesada do que nunca. Completamente rouca. Eu só entendia uma em cada duas palavras, mas era
o suficiente para recuperar o resto.
112
- O senhor é um bom rapaz, meu amigo... E polido... O barulho de uma porta que fechavam bruscamente, barulho muito distante, mas que o eco repercutia. Vinha do
fundo do hangar. A porta da sala de jantar, lá embaixo, a uns cem metros de nós. Reconheci a silhueta de Yvonne, seus cabelos ruivos que lhe caíam até os quadris
quando não os penteava. De onde estávamos ela parecia pequena, uma liliputiana. O cão lhe chegava à altura do peito. Não esquecerei jamais a visão daquela menininha
e daquele molosso que andavam em nossa direção e retomavam aos poucos suas verdadeiras dimensões.
- Ei-la - constatou o tio. - Não vai contar para ela o que eu lhe disse, hein? Isso deve ficar entre nós.
- Mas é claro... Não tirávamos os olhos dela, à medida que ela atravessava o hangar. O cachorro vinha de batedor.
- Aparenta ser tão pequena - observei. - Sim, tão pequena - disse o tio. - É uma criança... difícil...
Ela nos percebia e agitava o braço. Gritava: Victor... Victor..., e o eco desse nome que não era o meu repercutia de um extremo a outro do hangar. Chegava perto
de nós e vinha sentar-se à mesa, entre o tio e eu. Estava um pouco esbaforida.
- Que gentil vir nos fazer companhia - disse o tio. - Quer hortelã? Fresca? Com gelo?
Ele nos servia outra vez um copo para cada um. Yvonne me sorria e como de hábito eu sentia uma espécie de vertigem.
- De quê vocês dois falavam? - Da vida - disse o tio. Ele acendeu um Royale e eu sabia que o manteria no canto da boca até que lhe queimasse os lábios.
- Ele é simpático, o conde... E muito bem-educado. - Oh, sim - disse Yvonne. - Victor é um tipo raro. - Repete - disse o tio. - Victor é um tipo raro. - Acham
mesmo? - perguntei, voltando-me para um e
113
para outro. Eu devia estar com uma expressão bizarra pois Yvonne me beliscou a bochecha e disse, como se quisesse me certificar:
- É sim, você é raro. O tio, por sua vez, encarecia. - Raro, meu velho, raro... O senhor é raro... - Muito bem... Fiquei nisso, mas ainda me lembro de que tinha
a intenção de dizer: "Muito bem, o senhor me concede a mão de sua sobrinha?" Era o momento ideal, penso ainda hoje, para pedi-la em casamento. Sim. Não continuei
minha frase. Ele recomeçou, numa voz cada vez mais áspera:
- Raro, meu velho, raro... raro... raro... O cão enfiou a cabeça no meio das plantas e nos observava. Uma nova vida poderia ter começado a partir daquela noite.
Não deveríamos jamais ter nos separado. Eu me sentia tão bem entre ela e ele, em volta da mesa do jardim, naquele grande hangar que com certeza destruíram depois.
114
XI
O tempo envolveu todas essas coisas num vapor de cores mutantes: ora verde pálido, ora azul ligeiramente rosado. Um vapor? Não, um véu impossível de rasgar que
abafa os ruídos e através do qual eu vejo Yvonne e Meinthe mas não os escuto mais. Temo que seus vultos acabem se esfumando e para ainda conservar deles um pouco
de realidade...
Embora Meinthe fosse poucos anos mais velho do que Yvonne, eles se conheceram muito cedo. O que os aproximou foi o tédio que sentiam os dois de viver naquela pequena
cidade e seus projetos para o futuro. Na primeira oportunidade, pensavam em deixar aquele "buraco" (uma das expressões de Meinthe) que só se animava nos meses
de verão durante a "estação". Meinthe, justamente, acabava de se associar a um barão belga miliardário hospedado no Grand Hôtel de Menthon. O barão logo se apaixonou
por ele e isso não me surpreende pois aos vinte anos Meinthe tinha um certo encanto físico e o dom de divertir as pessoas. O belga não vivia mais sem ele. Meinthe
lhe apresentou Yvonne como sendo sua "irmãzinha".
Foi esse barão quem os tirou do "buraco" e eles sempre falaram dele com uma afeição quase filial. Ele possuía uma grande vila em Cap-Ferrat e alugava permanentemente
uma suíte
115
no hotel do Palais de Biarritz e outra no Beau-Rivage de Genebra. A sua volta gravitava uma pequena corte de parasitas dos dois sexos, que os seguia em todos os
deslocamentos.
Meinthe muitas vezes imitou para mim o andar dele. O barão media cerca de dois metros e avançava a passos rápidos, com as costas muito curvadas. Tinha hábitos
curiosos: no verão, não queria se expor ao sol e ficava o dia todo na suíte do hotel do Palais ou no salão de sua vila do Cap-Ferrat. As vigias e cortinas ficavam
fechadas, a luz acesa e ele obrigava alguns efebos a lhe fazer companhia. Estes acabavam perdendo o belo bronzeado.
Ele tinha oscilações de humor e não suportava a contradição. De repente áspero. E no minuto seguinte, muito terno. Ele dizia a Meinthe, num suspiro: "No fundo,
sou a rainha Elizabeth da Bélgica... coitada, COITADA da rainha Elizabeth, você sabe... E você, acho que você compreende essa tragédia..." Em contato com ele,
Meinthe ficou conhecendo os nomes de todos os membros da família real belga e era capaz de rabiscar em alguns segundos sua árvore genealógica no canto de uma toalha
de papel. Muitas vezes o fez na minha frente porque sabia que me divertia.
Daí data também seu culto à rainha Astrid. O barão era um homem de cinqüenta anos na época. Tinha viajado muito e conhecido montes de pessoas interessantes e
refinadas. Freqüentemente visitava seu vizinho no Cap-Ferrat, o escritor inglês Somerset Maugham, de quem era amigo íntimo. Meinthe lembrava-se de um jantar em
companhia de Maugham. Um desconhecido, para ele.
Outras pessoas menos ilustres, mas "divertidas", freqüentavam assiduamente o barão, atraídas por seus caprichos faustosos. Tinha se formado um bando cujos membros
viviam férias eternas. Naquela época, descia-se da vila do Cap-Ferrat a bordo de cinco ou seis automóveis conversíveis. Ia-se dançar em Juan-les-Pins ou participar
dos "Toros de Fuego" de SaintJean-de-Luz.
116
Yvonne e Meinthe eram os mais novos. Ela mal tinha 16 anos e ele vinte. Gostavam muito deles.
Eu pedi a eles que me mostrassem fotografias, mas nem um nem o outro - era o que diziam - tinham guardado. Além disso, não falavam espontaneamente desse período.
O barão morreu em circunstâncias misteriosas. Suicídio? Acidente de automóvel? Meinthe tinha alugado um apartamento em Genebra. Yvonne morava lá. Mais tarde, ela
começou a trabalhar, na qualidade de modelo, para uma casa de costura milanesa, mas não me deu detalhes a respeito. Meinthe freqüentou nesse intervalo a faculdade
de medicina? Ele me afirmou muitas vezes "que exercia a medicina em Genebra" e toda vez eu tinha vontade de perguntar: que medicina? Yvonne evoluía entre Roma,
Milão e a Suíça. Ela era o que se chamava de modelo volante. Pelo menos foi o que me disse. Tinha conhecido Madeja em Roma, em Milão ou no tempo do bando do barão?
Quando lhe perguntava de que maneira tinham se conhecido e por que acaso ele a havia escolhido para trabalhar no Liebesbriefe auf dem Berg, ela se esquivava da
minha pergunta.
Nem ela nem Meinthe jamais me contaram sua vida em detalhe, mas indicações vagas e contraditórias.
Acabei identificando o barão belga que os tirou da província e os levou para a Côte d'Azur e para Biarritz (eles se recusavam a me dizer o nome dele. Pudor? Vontade
de embaralhar as cartas?). Um dia, procurarei todas as pessoas que faziam parte de seu "bando" e talvez haja uma que se lembre de Yvonne... Irei a Genebra, a
Milão. Conseguirei achar as peças do quebracabeça incompleto que me deixaram?
Quando os conheci, era o primeiro verão que passavam em sua cidade natal há bastante tempo e depois de todos aqueles anos de ausência entrecortados por breves estadas,
sentiam-se estranhos ali. Yvonne me confidenciou que ficaria espantada se soubesse, aos 16 anos, que um dia moraria no Hermitage com a impressão de se encontrar
numa estação de águas desconhecida. No início, eu ficava indignado com esse tipo de coisa.
117
Eu, que tinha sonhado nascer numa pequena cidade de província, não compreendia que se pudesse renegar o local da própria infância, as ruas, as praças e as casas
que compunham a própria paisagem original. O próprio abrigo. E que não se retornasse a ele com o coração batendo. Eu explicava a Yvonne com gravidade meu ponto
de vista de apátrida. Ela não me escutava. Estava deitada na cama com robe de seda furado e fumava cigarros Muratti. (Por causa do nome: Muratti, que ela achava
muito chique, exótico e misterioso. Esse nome ítalo-egípcio me fazia bocejar de tédio porque lembrava o meu.) Eu lhe falava da Nacional 201, da igreja de São Cristóvão
e da garagem de seu tio. E o cinema Splendid? E a rua Royale, que ela devia percorrer aos 16 anos, parando em cada vitrine? E tantos outros lugares que eu ignorava
e que com certeza estavam ligados em seu espírito a recordações? A estação, por exemplo, ou os jardins do Casino. Ela dava de ombros. Não. Aquilo tudo não lhe dizia
mais nada.
No entanto, ela me levou várias vezes a uma espécie de grande salão de chá. íamos lá em torno das duas horas da tarde, quando os veranistas estavam na praia ou
dormiam a sesta. Era preciso seguir as arcadas, depois da Taverne, atravessar uma rua, seguir de novo as arcadas: elas, com efeito, corriam em torno de dois
grandes blocos de edifícios construídos na mesma época que o Casino e que lembravam as residências de 1930 da periferia da XVII circunscrição, bulevares Gouvion-Saint-Cyr,
de Dixmude, de Yser e da Somme. O lugar se chamava Réganne e as arcadas o protegiam do sol. Não tinha terraço como a Taverne. Adivinhava-se que aquele estabelecimento
tinha tido seu momento de glória, mas que a Taverne o havia suplantado. Instalávamo-nos a uma mesa do fundo. A menina da caixa, uma morena de cabelo curto que
se chamava Claude, era amiga de Yvonne. Vinha ter conosco. Yvonne lhe pedia notícias de gente sobre quem eu já a tinha escutado falar com Meinthe. Sim, Rosy cuidava
do hotel de La Clusaz no lugar do pai e Paulo Hervieu trabalhava com antiguidades. Pimpin Lavorel continuava
118
dirigindo feito louco. Acabava de comprar um Jaguar. Claude Brun estava na Argélia. A "Yéyette" tinha sumido...
- E você, tudo indo em Genebra? - perguntava Claude. - Oh, sim, você sabe... tudo indo... tudo indo - respondia Yvonne, pensando em outra coisa.
- Você está em sua casa? - Não. No Hermitage. - No Hermitage? Ela sorria ironicamente. - Você tinha que vir ver o quarto - propunha Yvonne -, é engraçado...
- Ah, sim, eu gostaria de ver... Uma noite dessas... Ela tomava um drinque conosco. A grande sala do Réganne estava deserta. O sol desenhava redes sobre a parede.
Atrás do balcão de madeira escura, um afresco representando o lago e a cadeia de Aravis.
- Aqui agora não tem mais ninguém constatava Yvonne.
- Só velhos - dizia Claude. Ela ria um riso incomodado. - Mudou, hein? Yvonne também forçava o riso. Depois calavam-se. Claude contemplava as unhas, cortadas
muito curtas e pintadas com esmalte laranja. Não tinham mais nada a se dizer. Eu gostaria de lhes fazer perguntas. Quem era Rosy? E Paulo Hervieu? Desde quando
elas se conheciam? Como era Yvonne aos 16 anos? E o Réganne antes de o terem transformado em salão de chá? Mas aquilo tudo não lhes interessava mais, nem a uma,
nem a outra. Em suma, só eu me preocupava com o passado delas de princesas francesas.
Claude nos acompanhava até a porta giratória e Yvonne a beijava. Ainda lhe propunha:
- Venha ao Hermitage quando quiser... Para ver o quarto...
- Está bem, uma noite dessas... Mas nunca veio.
119
Com exceção de Claude e do tio, parecia que Yvonne nada tinha deixado para trás naquela cidade, e eu me espantava de que se pudesse cortar tão depressa as raízes
quando, por acaso, tínhamos em algum lugar.
Os quartos dos "palácios" iludem, nos primeiros dias, mas logo suas paredes e seus móveis taciturnos desprendem a mesma tristeza que os dos hotéis sujos. Luxo insípido,
odor adocicado nos corredores, que não consigo identificar, mas que deve ser mesmo o odor da inquietude, da instabilidade, do exílio e do alarme. Odor que jamais
deixou de me acompanhar. Saguões de hotel onde meu pai marcava encontros comigo, com suas vitrines, seus espelhos e seus mármores e que são apenas salas de espera.
De que, exatamente? Bolores de passaportes Nansen.
Mas nós não passávamos sempre a noite no Hermitage. Duas ou três vezes por semana Meinthe nos pedia que dormíssemos na casa dele. Tinha que se ausentar nessas noites
e me encarregava de atender ao telefone e tomar nota dos nomes e "mensagens". Especificou que o telefone poderia tocar a qualquer hora da noite, sem me revelar
quais eram seus misteriosos interlocutores.
Ele morava na casa que tinha pertencido a seus pais, no meio de um bairro residencial, antes de Carabacel. Pegava-se a avenida de Albigny e virava-se à esquerda,
logo depois da prefeitura. Quarteirão deserto, ruas ladeadas de árvores cujas folhagens formavam abóbadas. Vilas da burguesia local em volumes e estilos variáveis,
conforme o grau de fortuna. A dos Meinthe, na esquina da avenida Jean-Charcot e da rua Marlioz, era bastante modesta comparada às outras. Tinha uma cor azulcinza,
uma varandinha dando para a avenida Jean-Charcot e uma bow window do lado da rua. Dois andares, o segundo com mansarda. Um jardim de chão de cascalho. Uma cerca
de sebe abandonada. E no portão de madeira branca descascado, Meinthe tinha inscrito grosseiramente com tinta preta (foi ele que me contou): "Ville triste".
120
Com efeito, ela não respirava alegria, aquela vila. Não. No entanto, no início achei que o qualificativo "triste" não lhe convinha. E depois acabei compreendendo
que Meinthe tinha razão, se se percebe na sonoridade da palavra "triste" algo de doce e cristalino. Ultrapassado o portão da vila, éramos tomados por uma melancolia
límpida. Entrava-se numa zona de calma e de silêncio. O ar era mais leve. Flutuava-se. Os móveis, sem dúvida, tinham se perdido. Restava apenas um pesado sofá
de couro nos braços do qual eu notava marcas de unhas e, à esquerda, uma biblioteca envidraçada. Ao sentar no sofá, tinha-se, a cinco ou seis metros à frente, a
varanda. O assoalho era claro, mas mal cuidado. Uma lâmpada de louça com abajur amarelo colocado no próprio chão iluminava aquele grande cômodo. O telefone ficava
numa sala ao lado, a que se tinha acesso por um corredor. A mesma falta de móveis. Uma cortina vermelha ocultava a janela. As paredes eram de cor ocre, como as
do salão. Contra a parede da direita, uma cama de armar. Pregados na parede oposta, à altura de uma pessoa, um mapa Taride da África ocidental francesa e uma grande
vista aérea de Dacar, cercada por uma moldura muito fina. Parecia provir de um órgão de turismo. A fotografia meio marrom devia ter uns vinte anos de idade. Meinthe
me contou que seu pai tinha trabalhado algum tempo "nas colônias". O telefone ficava junto à cama. Um pequeno lustre com velas falsas e falsos cristais. Meinthe
dormia ali, acho.
Abríamos a porta da sacada e nos deitávamos no sofá. Ele tinha um cheiro muito particular de couro que só encontrei nele e nas duas poltronas que ornavam o escritório
de meu pai, na rua Lord-Byron. Era no tempo das viagens dele a Brazzaville, no tempo da misteriosa e quimérica Sociedade Africana de Empreendimento, que ele criou,
e sobre a qual não sei grande coisa. O cheiro do sofá, o mapa Taride da A.O.F. e a fotografia aérea de Dacar compunham uma série de coincidências. Em meu espírito,
a casa de Meinthe estava indissoluvelmente ligada à Sociedade Africana de Empreendimento, três palavras que
121
embalaram minha infância. Eu reencontrava o clima da rua Lord-Byron, perfume de couro, penumbra, conciliábulos intermináveis de meu pai com negros muito elegantes
de cabelos brancos... Era por isso que quando ficávamos Yvonne e eu no salão eu tinha a certeza de que o tempo tinha deveras parado?
Nós flutuávamos. Nossos gestos tinham uma lentidão infinita e quando nos deslocávamos era centímetro por centímetro. De rastos. Um movimento brusco teria destruído
o encanto. Falávamos em voz baixa. A noite invadia a sala pela varanda e eu via grãos de poeira estagnarem no ar. Um ciclista passava e eu ouvia o ronronar da
bicicleta durante vários minutos. Também ele progredia centímetro por centímetro. Ele flutuava. Tudo flutuava a nossa volta. Nós nem acendíamos a luz quando a
noite caía. O poste mais próximo, na avenida Jean-Charcot, difundia uma claridade de neve. Nunca sair dessa vila. Nunca deixar essa sala. Deitar no sofá ou talvez
no chão, como fazíamos cada vez com maior freqüência. Eu me espantava por descobrir em Yvonne uma aptidão tamanha para o abandono. Em mim, aquilo correspondia a
um horror ao movimento, uma inquietação em relação a tudo o que se move, que passa e que muda, ao desejo de não mais andar sobre areia movediça, de me fixar em
algum lugar, à necessidade de me petrificar. Mas e nela? Acho que era simplesmente preguiçosa. Como uma alga.
Chegávamos a deitar no corredor e lá permanecer a noite toda. Uma noite, rolamos para o fundo de um quarto de despejo, embaixo da escada que levava ao primeiro
andar e nos vimos prensados entre volumes imprecisos que identifiquei como sendo baús de vime. Mas não, não estou sonhando: nos deslocávamos de rastos. Partíamos
cada um de um ponto oposto da casa e rastejávamos no escuro. Era preciso ser o mais silencioso possível, e o mais lento, para que um dos dois surpreendesse o outro.
Uma vez Meinthe só voltou na noite seguinte. Não tínhamos nos deslocado da vila. Continuávamos esticados no assoalho, à borda da varanda. O cão dormia no meio do
sofá.
Era uma tarde pacífica e ensolarada. As folhas das árvores oscilavam docemente. Uma música militar muito longe. De vez em quando, um ciclista passava pela avenida
num zumbido de asas. Logo não ouvíamos mais ruído algum. Eram abafados por um acolchoado muito macio. Acho que se não fosse a chegada de Meinthe, não teríamos
nos mexido durante dias e dias, morreríamos de fome e de sede, para não ter que sair da vila. Nunca vivi depois momentos tão plenos e tão lentos como aqueles. O
ópio parece produzi-los. Eu duvido.
O telefone tocava sempre depois de meia-noite, à moda antiga, tiritando. Campainha delicada, usada, tocava baixinho. Mas era o suficiente para criar uma ameaça
no ar e rasgar o véu. Yvonne não queria que eu atendesse. "Não vai", ela cochichava. Eu rastejava tateando ao longo do corredor, não encontrava a porta da sala,
apoiava a cabeça contra a parede. E, com a porta aberta, era preciso ainda rastejar até o aparelho, sem qualquer ponto de referência visível. Antes de tirar do
gancho, eu experimentava uma sensação de pânico. Aquela voz - sempre a mesma - aterrorizava-me, dura e ao mesmo tempo ensurdecida por uma coisa qualquer. A distância?
O tempo? (Às vezes, poder-se-ia imaginar que se tratava de uma velha gravação.) Começava, invariavelmente, com:
- Alô, aqui é Henri Kustiker... Está me ouvindo? Eu respondia: "Sim". Uma pausa. - O senhor diga ao doutor que o esperamos amanhã às 21 horas no Bellevue, em
Genebra. O senhor entendeu?...
Eu soltava um sim mais fraco do que o primeiro. Ele desligava. Quando não marcava encontros, confiava-me mensagens:
- Alô, aqui é Henri Kustiker... - Uma pausa. - O senhor diga ao doutor que o comandante Max e Guérin chegaram. Viremos vê-lo amanhã à noite... amanhã à noite...
Eu não tinha força para responder. Ele já desligava. "Henri Kustiker" - toda vez que perguntávamos sobre ele a Meinthe,
123
ele não respondia - tornou-se para nós um personagem perigoso que ouvíamos rondar a vila. Não o conhecíamos de rosto e por isso ele se tornava cada vez mais obcecante.
Eu me divertia aterrorizando Yvonne. Afastava-me dela e repetia no escuro, numa voz lúgubre:
- Aqui é Henri Kustiker... Aqui é Henri Kustiker... Ela berrava. E por contágio, o medo me dominava também. Esperávamos, com o coração batendo, o tiritar do telefone.
Nós nos encolhíamos debaixo da cama de armar. Uma noite ele tocou mas só consegui tirar o aparelho do gancho depois de vários minutos, como naqueles pesadelos
em que todos os nossos gestos têm peso de chumbo.
- Alô, aqui é Henri Kustiker... Eu não conseguia proferir uma única sílaba. - Alô... Está me ouvindo?... Está me ouvindo?... Prendíamos a respiração. - Aqui
é Henri Kustiker, está me ouvindo?... A voz estava cada vez mais fraca. - Kustiker... Henri Kustiker... Está me ouvindo?... Quem era ele? De onde podia estar
telefonando? Um ligeiro murmúrio ainda.
- Tiker... ouvindo... Mais nada. O último fio que nos ligava ao mundo exterior acabava de se romper. Nós nos deixávamos deslizar de novo até as profundezas onde
mais ninguém - eu esperava - viesse nos perturbar.
124
XII
É o terceiro "porto claro" dele. Ele não tira os olhos da fotografia grande de Hendrickx por cima das fileiras de garrafas. Hendrickx na época de seu esplendor,
vinte anos antes daquele verão em que fiquei furioso por vê-lo dançar, na noite da taça, com Yvonne. Hendrickx jovem, magro e romântico - mistura de Mermoz com
o duque de Reichstadt - uma velha fotografia que a menina que tomava conta do botequim do Sporting tinha me mostrado um dia quando eu lhe fazia perguntas sobre
meu "rival". Ele engordou muito depois.
Suponho que Meinthe, ao contemplar aquele documento histórico, tenha acabado sorrindo, com seu sorriso inesperado que jamais exprimia alegria, mas que era uma
descarga nervosa. Pensou na noite em que nos encontrávamos os três na SainteRose, depois da taça? Deve ter contado os anos: cinco, dez, 12... tinha mania de contar
os anos e os dias. "Daqui a um ano e 33 dias será meu vigésimo sétimo aniversário... Faz sete anos e cinco dias que Yvonne e eu nos conhecemos..."
O outro cliente saía, num andar hesitante, depois de ter acertado seus "dry", mas tinha se recusado a acrescentar o preço dos telefonemas, dizendo que não tinha
pedido o "233 em Chambéry". Como a discussão ameaçava prolongar-se até a
125
aurora, Meinthe lhe tinha explicado que acertaria ele próprio o telefone. E que, aliás, tinha sido ele mesmo, Meinthe, quem tinha pedido o 233 em Chambéry. Ele
e somente ele.
Daqui a pouco meia-noite. Meinthe lança um último olhar para a fotografia de Hendrickx e se dirige à porta do Cintra. No momento em que vai sair, dois homens entram,
empurrando-o, e mal se desculpam. Depois três. Depois cinco. Vêm em número cada vez maior, e ainda vêm mais. Cada um deles traz, pregado na parte de trás do casaco,
um pequeno retângulo de papelão em que se lê: "Inter-Touring". Falam muito alto, riem muito alto, dão grandes tapas nas costas. Os membros do "congresso" de que
falava há pouco a garçonete. Um deles, mais cercado de gente do que os outros, fuma cachimbo. Eles fazem reviravoltas em torno dele e o interpelam: "Presidente...
Presidente... Presidente...". Meinthe tenta em vão abrir caminho. Eles recuaram quase para junto do bar. Formam grupos compactos. Meinthe os contorna, procura
um buraco, intromete-se, mas sente outra vez a pressão deles e perde terreno. Transpira. Um deles lhe pôs a mão no ombro, achando, sem dúvida, que se trata de
um "confrade" e Meinthe é logo integrado a um grupo: o do "presidente". Estão comprimidos como na estação Chaussée d'Antin nas horas de pico. O presidente, de
menor estatura, protege o cachimbo envolvendo-o com a palma da mão. Meinthe consegue se soltar daquela confusão, dá uns empurrões com os ombros, umas cotoveladas
e se lança, afinal, contra a porta. Ele a entreabre e desliza para a rua. Alguém sai atrás dele e o repreende:
- Onde vai? O senhor é do Inter-Touring? Meinthe não responde. - O senhor deve ficar. O presidente está oferecendo um "pot"... Vamos, fique...
Meinthe apressa o passo. O outro recomeça, com uma voz suplicante:
- Vamos, fique... Meinthe anda cada vez mais depressa. O outro se põe a gritar:
126
- O presidente vai perceber que está faltando um cara do Inter-Touring... Volte... Volte...
Sua voz soa clara na rua deserta. Mei nthe agora se encontra diante do jato d'água do Casino. No inverno, ele não muda de cor e sobe bem menos do que durante
a "estação". Ele o observa um instante e depois atravessa e segue a avenida de Albigny pela calçada da esquerda. Anda lentamente e faz ligeiros ziguezagues. Dir-se-ia
que flana. De vez em quando, dá um tapinha na casca de um plátano. Ladeia a prefeitura. É claro, pega a primeira rua à esquerda que se chama - se minhas recordações
estão corretas - avenida MacCroskey. Há 12 anos essa fileira de prédios novos não existia. No lugar havia um parque abandonado no meio do qual se erguia uma casa
grande em estilo anglo-normando, desabitada. Ele chega à encruzilhada Pelliot. Nós freqüentemente nos sentamos num dos bancos, Yvonne e eu. Ele pega, à direita,
a avenida Pierre-Forsans. Eu poderia fazer esse caminho de olhos fechados. O bairro não mudou muito. Pouparam-no, por razões misteriosas. As mesmas vilas cercadas
por seus jardins e pequenas sebes, as mesmas árvores dos dois lados das avenidas. Mas faltam as folhas. O inverno dá a tudo isso uma característica desolada.
Eis-nos na rua Marlioz. A vila está na esquina, lá em baixo, à esquerda. Eu a vejo. Eu o vejo, andando num passo ainda mais lento do que há pouco e empurrando com
o ombro o portão de madeira. Você sentou no sofá do salão e não acendeu a luz. O poste, em frente, espalha sua claridade branca.
"8 de dezembro... Um médico de A..., Sr. René Meinthe, 37 anos, suicidou-se na noite de sexta-feira para sábado em seu domicílio. O desesperado tinha aberto o
gás."
Eu contornava - já não sei por quê - as arcadas, rua de Castiglione, quando li essas poucas linhas num jornal vespertino. Le Dauphiné, diário da região, dava mais
detalhes. Meinthe recebia as honras da primeira página, com a manchete: "O
127
SUICÍDIO DE UM MÉDICO DE A...", que remetia para a página 6, a das informações locais:
"8 de dezembro. O doutor René Meinthe suicidou-se, na noite passada, na sua vila, no número 5 da avenida Jean-Charcot. A senhorita B., empregada do doutor, ao
entrar na casa, como toda manhã, foi logo alertada por um cheiro de gás. Era tarde demais. O doutor Meinthe teria deixado uma carta.
Ele tinha sido visto ontem à noite na estação, no momento da chegada do expresso com destino a Paris. Segundo uma testemunha, teria passado algum tempo no Cintra,
rua Sommeiller, 23.
O doutor René Meinthe, depois de ter exercido a medicina em Genebra, tinha voltado há cinco anos a A..., berço de sua família. Aí praticava a osteopatia. Eram conhecidas
suas dificuldades de ordem profissional. Elas explicam seu gesto desesperado?
Ele tinha 37 anos. Era filho do doutor Henri Meinthe, que foi um dos heróis e mártires da Resistência e é nome de uma rua de nossa cidade."
Andei ao acaso e meus passos me conduziram até a praça do Carrousel, que atravessei. Entrei num dos dois pequenos jardins que cercam o palácio do Louvre, na frente
da Cour Carrée. Fazia um doce sol de inverno e crianças brincavam sobre o gramado em declive, ao pé da estátua do general La Fayette. A morte de Meinthe deixaria
para sempre certas coisas na sombra. Assim, eu jamais viria a saber quem era Henri Kustiker. Repeti esse nome em voz alta: Kus-ti-ker, Kus-ti-ker, um nome que
não tinha mais sentido, exceto para mim. E para Yvonne. Mas o que tinha acontecido com ela? O que torna o desaparecimento de um ser mais sensível são as palavras
- a senha - que existiam entre ele e nós e que de repente ficam inúteis e vazias.
Kustiker... Na época, eu tinha feito mil suposições, cada uma mais inverossímil do que a outra, mas a verdade, eu sentia isso, devia ser, também ela, esquisita.
E inquietante. Meinthe,
128
às vezes, nos convidava para tomar chá na vila. Uma tarde, por volta das cinco horas, encontrávamo-nos no salão. Escutávamos a música preferida de René: The Café
Mozart Waltz, cujo disco ele punha e repunha. Tocaram à porta. Ele tentou reprimir um tique nervoso. Eu vi - e Yvonne também - dois homens no patamar da escada
segurando um terceiro com o rosto inundado de sangue. Eles atravessaram rapidamente o vestíbulo e se dirigiram ao quarto de Meinthe. Ouvi um dos dois dizer:
- Dê uma injeção de cânfora. Senão esse porcalhão vai bater as botas em nossas mãos...
Sim. Yvonne escutou a mesma coisa. René veio ter conosco e nos pediu para ir embora no ato. Disse num tom seco: "Depois explico..."
Não nos explicou, mas tinha sido suficiente entrever os dois homens para saber que se tratava de "policiais" ou indivíduos que tinham uma relação qualquer com a
polícia. Alguns fragmentos, algumas mensagens de Kustiker confirmaram essa opinião. Era a época da guerra da Argélia e Genebra, onde Meinthe mantinha seus encontros,
servia como eixo. Agentes de todos os tipos. Polícias paralelas. Redes clandestinas. Nunca entendi nada disso. Que papel desempenhava René naquilo? Diversas vezes
adivinhei que ele gostaria de se abrir comigo, mas sem dúvida me julgava jovem demais. Ou simplesmente era tomado, antes das confidências, por um imenso cansaço
e preferia guardar seu segredo.
Uma noite, no entanto, quando eu não parava de lhe perguntar que tipo de brincadeira era aquele "Henri Kustiker" e Yvonne implicava com ele, repetindo a frase ritual
- "Alô, aqui é Henri Kustiker..." - sua aparência era mais tensa do que de costume. Ele declarou surdamente: "Se vocês soubessem tudo o que esses sujos me obrigam
a fazer..." E acrescentou numa voz breve: "Bom seria se eu pudesse esquecer as histórias deles de Argélia..." No minuto seguinte, voltava à despreocupação e ao
bom humor e nos propunha ir à Sainte-Rose.
Depois de 12 anos, eu me dava conta de que não sabia
129
muita coisa sobre René Meinthe e condenava minha falta de curiosidade na época em que o via todos os dias. Depois, a figura de Meinthe - e a de Yvonne também -
embaralharam-se e eu tinha a impressão de não mais distingui-las a não ser através de um vidro fosco.
Lá, naquele banco de praça, com o jornal que anunciava a morte de René a meu lado, revi breves seqüências daquela estação, mas tão vagas como de costume. Uma noite
de sábado, por exemplo, quando jantávamos, Meinthe, Yvonne e eu, numa pequena tasca à beira do lago. Em torno de meia-noite, um grupo de malandros cercava nossa
mesa e começava a nos atacar. Meinthe, com o maior sangue-frio, tinha apanhado uma garrafa, quebrado contra a borda da mesa e brandia o gargalo cheio de pontas.
- O primeiro que se aproximar, eu corto a garganta... Disse essa frase num tom de alegria malvada que me dava medo. Aos outros também. Eles recuaram. No caminho
de volta, René cochichou:
- Quando eu penso que ficaram com medo da rainha Astrid...
Ele admirava particularmente essa rainha e sempre levava consigo uma fotografia dela. Acabou se convencendo de que, numa vida anterior, ele tinha sido a jovem,
bela e infeliz rainha Astrid. Com a fotografia de Astrid, levava aquela onde figurávamos nós três, na noite da taça. Eu tenho uma outra, tirada na avenida de Albigny,
em que Yvonne me segura pelo braço. O cachorro está a nosso lado, grave. Dir-se-ia uma fotografia de noivado. E depois, conservei uma outra muito mais antiga,
que Yvonne me deu. Data do tempo do barão. Vêem-se os dois, Meinthe e ela, numa tarde ensolarada, sentados no terraço do bar Basque de Saint-Jean-de-Luz.
São essas as únicas imagens nítidas. Uma bruma aureola todo o resto. Saguão e quarto do Hermitage. Jardins do Windsor e do hotel Alhambra. Vila Triste. A Sainte-Rose.
Sporting. Casino. Houligant. E as sombras de Kustiker (mas quem era Kustiker?), de Yvonne Jacquet e de um tal de conde Chmara.
130
XIII
Foi mais ou menos nessa época que Marilyn Monroe nos deixou. Eu tinha lido muitas coisas a seu respeito nas revistas e a citava como exemplo para Yvonne. Ela também,
se quisesse, poderia fazer uma bela carreira no cinema. Francamente, tinha tanto charme quanto Marilyn Monroe. Bastava-lhe ter a mesma perseverança.
Ela me escutava sem nada dizer, deitada na cama. Eu falava do início difícil de Marilyn Monroe, das primeiras fotografias para folhinhas, dos primeiros pequenos
papéis, dos degraus galgados um após o outro. Ela, Yvonne Jacquet, não devia parar no meio do caminho. "Modelo volante." Em seguida, um primeiro papel em Liebesbriefe
auf dem Berg, de Rolf Madeja. E acabava de levar a Taça Houligant. Cada etapa tinha sua importância. Era preciso pensar na próxima. Subir um pouco mais. Um pouco
mais.
Ela não me interrompia quando eu lhe expunha minhas idéias acerca de sua "carreira". Escutava-me de verdade? No início, sem dúvida, ficou surpresa com tamanho
interesse de minha parte, e lisonjeada por eu entretê-la com seu belo futuro com tanta veemência. Talvez, por instantes, eu lhe tenha comunicado meu entusiasmo
e ela se punha, também, a sonhar. Mas aquilo não durava, suponho. Ela era mais velha do que eu. Quanto
131
mais penso nisso, mais me digo que ela vivia aquele momento da juventude em que tudo de repente vai balançar, em que vai ser um pouco tarde demais para tudo.
O barco ainda está no cais, basta atravessar o passadiço, restam alguns minutos... Uma doce ancilose lhe toma.
Meus discursos a faziam rir, às vezes. Cheguei a vê-la dar de ombros quando lhe disse que os produtores com certeza iriam notar sua aparição em Liebesbriefe auf
dem Berg. Não, ela não acreditava nisso. Ela não tinha o fogo sagrado. Mas Marilyn Monroe também não, no início. Isso vem, o fogo sagrado.
Muitas vezes me pergunto onde ela pode ter falhado. Com certeza, ela não é mais a mesma e sou obrigado a consultar as fotografias para ter bem na memória o rosto
que ela tinha naquela época. Tento em vão, há anos, ver Liebesbriefe auf dem Berg. As pessoas a quem perguntei me disseram que esse filme não existia. O próprio
nome de Rolf Madeja não lhes dizia grande coisa. Eu lamento. No cinema teria reencontrado sua voz, seus gestos e seu olhar tais como os conheci. E amei.
Onde quer que ela esteja - muito longe, imagino - lembra-se vagamente dos projetos e dos sonhos que eu arquitetava no quarto do Hermitage, enquanto preparávamos
a refeição do cachorro? Lembra-se da América?
Pois, se atravessávamos os dias e as noites em deliciosa prostração, isso não me impedia de pensar em nosso futuro, que eu via em cores cada vez mais exatas. Eu
tinha, com efeito, pensado seriamente no casamento de Marilyn Monroe e Arthur Miller, casamento entre uma verdadeira americana, saída do mais profundo da América,
e um judeu. Nós teríamos um destino um tanto parecido, Yvonne e eu. Ela, francesinha da terra, que viriá a ser daqui a alguns anos uma estrela de cinema. E eu,
que terminaria sendo um escritor judeu, com grossíssimos óculos de tartaruga.
Mas a França, de repente, pareceu ser um território por demais estreito, onde eu não conseguiria de fato mostrar do que
132
era capaz. O que poderia alcançar naquele pequeno país? Um comércio de antiguidades? Um emprego de comerciante de livros? Uma carreira de literato tagarela e friorento?
Nenhuma dessas profissões despertava meu entusiasmo. Era preciso partir, com Yvonne.
Eu não deixaria nada para trás, pois não tinha ligações em lugar algum e Yvonne havia rompido as dela. Teríamos uma vida nova.
Inspirei-me no exemplo de Marilyn Monroe e Arthur Miller? Logo pensei na América. Lá, Yvonne se dedicaria ao cinema. E eu à literatura. Nós nos casaríamos na grande
sinagoga do Brooklyn. Encontraríamos dificuldades múltiplas. Talvez elas nos massacrassem definitivamente, mas se as vencêssemos, então o sonho tomaria forma. Arthur
e Marilyn. Yvonne e Victor.
Eu previa para bem mais tarde um retorno à Europa. Nós nos aposentaríamos numa região montanhosa - Tessin ou Engadine. Moraríamos num imenso chalé, cercado por
um parque. Numa estante, os Oscars de Yvonne e meus diplomas de doutor honoris causa das universidades de Vale e do México. Teríamos uma dezena de dogues alemães,
encarregados de retalhar os eventuais visitantes e jamais veríamos ninguém. Passaríamos dias jogados no quarto como nos tempos do Hermitage e da Vila Triste.
Para esse segundo período de nossa vida, eu tinha me inspirado em Paulette Godard e Erich Maria Remarque.
Ou então ficávamos na América. Encontrávamos uma grande casa no campo. O título de um livro largado no salão de Meinthe tinha me impressionado: A verde relva do
Wyoming. Nunca o li, mas basta repetir A verde relva do Wyoming para eu sentir uma fisgada no coração. Definitivamente, era naquele país que não existe, no meio
daquela relva alta e de um verde transparente, que eu gostaria de viver com Yvonne.
133
O projeto de partida para a América, refleti sobre ele diversos dias antes de falar com ela. Havia o risco de ela não me levar a sério. Era preciso, antes, acertar
os detalhes materiais. Não improvisar nada. Eu juntaria o dinheiro da viagem. Dos 800 mil francos que tinha arrancado do bibliófilo de Genebra, restava em torno
da metade, mas eu contava com outro recurso: uma borboleta extremamente rara que levava há alguns meses nas malas, espetada no fundo de uma caixinha de vidro.
Um perito tinha me afirmado que o animal valia "por baixo" 400 mil francos. Ele valia, conseqüentemente, o dobro e eu poderia conseguir o triplo se o vendesse
a um colecionador. Eu mesmo apanharia os bilhetes na companhia geral transatlântica e acabaríamos no hotel Algonquin de Nova York.
Em seguida, eu contava com minha prima, Bella Darvi, que tinha feito carreira lá, para nos introduzir no meio do cinema. Pronto. Era esse, em grandes linhas, meu
plano.
Contei até três e me sentei num degrau da grande escadaria. Através da rampa, via o balcão da recepção, embaixo, e o porteiro que falava com um indivíduo careca
de smoking. Ela se virou, surpresa. Estava usando seu vestido de musselina verde e um lenço da mesma cor.
- E se fôssemos para a América? Eu tinha criado aquela frase com medo que ela ficasse no fundo da garganta ou que se transformasse num arroto. Respirei bem e repeti
também alto:
- E se fôssemos para a América? Ela veio se sentar no degrau, a meu lado, e me apertou o braço.
- Você não está bem? - perguntou. - Claro que estou. É muito simples... Muito, muito simples... Vamos para a América...
Ela examinou os sapatos de salto, beijou-me no rosto e me disse que eu lhe explicaria aquilo mais tarde. Já passava das
134
nove horas e Meinthe nos esperava na Resserre deVeyrier-duLac.
O lugar lembrava os albergues das cercanias de Mame. As mesas estavam arrumadas numa grande chata, em torno da qual haviam posto grades e tinas de plantas e arbustos.
Jantavase à luz de velas. René tinha escolhido uma das mesas mais próximas da água.
Ele vestia seu terno de xantungue bege e nos acenou com o braço. Estava em companhia de um moço que nos apresentou, mas cujo nome esqueci. Sentamo-nos à frente
deles.
- É muito agradável aqui - declarei - para iniciar a conversa.
- É, pode ser - disse René. - Este hotel é mais ou menos um ponto de encontro...
- Desde quando? - perguntou Yvonne. - Desde sempre, minha querida. Ela me olhou de novo, caindo na gargalhada. E depois: - Sabe o que o Victor me propôs? Quer
me levar para a América.
- Para a América? Visivelmente, ele não estava compreendendo. - Idéia esquisita. - Sim - eu disse. - Para a América. Ele me sorriu com um ar cético. Para ele,
tratava-se de palavras ao vento. Virou-se para o amigo.
- E então, melhorou? O outro respondeu com um sinal de cabeça. - Agora você tem que comer. Ele lhe falava como a uma criança, mas o rapaz devia ser um pouco
mais velho do que eu. Tinha o cabelo louro curto, um rosto de traços angelicais e uma largura de lutador.
René nos explicou que o amigo tinha concorrido à tarde pelo título de "mais belo atleta da França". A prova tinha acontecido no Casino. Ele tinha ficado apenas
com o terceiro lugar
135
dos juniores. O outro passou a mão no cabelo e, dirigindo-se a mim:
- Não tive sorte... Eu o ouvia falar pela primeira vez e, pela primeira vez, notei seus olhos de um azul lavanda. Ainda hoje me lembro da aflição infantil daquele
olhar. Meinthe encheu o prato dele de alimentos crus. O outro dirigia-se sempre a mim e também a Yvonne. Sentia-se à vontade.
- Esses sujos do júri... eu devia ter ganho a melhor nota em poses plásticas livres... - Cale-se e coma - disse Meinthe, num tom afetuoso.
De nossa mesa, viam-se as luzes da cidade, ao fundo, e virando-se ligeiramente a cabeça uma outra luz, muito brilhante, chamava a atenção, bem à frente, na margem
oposta: a SainteRose. Naquela noite, as fachadas do Casino e do Sporting estavam sendo varridas por projetores cujos fachos atingiam as bordas do lago. A água tomava
matizes vermelhos ou verdes. Eu escutava uma voz desmesuradamente amplificada por um altofalante, mas estávamos longe demais para apreender as palavras. Tratava-se
de um espetáculo som e luz. Eu tinha lido na imprensa local que nessa ocasião um ator da Comédie-Française, Marchat, acho eu, declamaria O lago, de Alphonse de
Lamartine. Eram, sem dúvida, da voz dele os ecos que percebíamos.
- Devíamos ter ficado na cidade para ver - disse Meinthe. - Eu adoro o som e luz. E você?
Ele se dirigia ao amigo. - Não sei - respondeu o outro. Seu olhar estava ainda mais desesperado do que no primeiro instante.
- Poderíamos passar lá daqui a pouco - propôs Yvonne sorrindo.
- Não - disse Meinthe -, esta noite tenho que ir a Genebra.
O que ia fazer lá? Com quem se encontrava no Bellevue ou no Pavillon Arosa, aqueles locais que me indicava Kustiker
136
pelo telefone? Um dia, não voltaria vivo. Genebra, cidade de aparência asséptica, mas devassa. Cidade incerta. Cidade de trânsito.
- Vou ficar lá uns três ou quatro dias - disse Meinthe. - Telefono para vocês quando voltar.
- Mas teremos partido para a América, Victor e eu, daqui até lá - disse Yvonne.
E ela riu. Eu não entendia por que ela levava meu projeto na brincadeira. Eu sentia uma raiva surda tomar conta de mim.
- Enjoei da França - eu disse, num tom sem réplica. - Eu também - disse o amigo de Meinthe, de modo brutal que contrastava com a timidez e a tristeza que tinha
mostrado até então. E essa observação distendeu a atmosfera.
Meinthe tinha pedido bebida e éramos os únicos clientes que ainda permanecíamos no pontão. Os alto-falantes, na distância, difundiam uma música de que só nos chegavam
fragmentos.
- Essa é a banda municipal disse Meinthe. - Ela toca em todos os som e luz. Ele se virou para nós: O que é que vocês vão fazer esta noite?
- Fazer as malas para ir para a América - declarei, secamente.
De novo, Yvonne me examinou com inquietude. - Ele continua com a América dele - disse Meinthe. - Então vocês iriam me deixar aqui sozinho?
- Claro que não - eu disse. Brindamos os quatro, sem mais nem menos, sem razão alguma, mas porque Meinthe o propunha. Seu amigo esboçou um sorriso pálido e seus
olhos azuis foram atravessados por um lampejo furtivo de alegria. Yvonne me deu a mão. Os serventes já começavam a arrumar as mesas.
São essas as recordações que ficaram desse último jantar.
137
Ela me escutava, franzindo as sobrancelhas, de uma maneira estudiosa. Estava deitada na cama, vestida com o velho robe de seda de bolas vermelhas. Eu lhe explicava
meu plano: a companhia geral transatlântica, o hotel Algonquin e minha prima Bella Darvi... A América em cuja direção vogaríamos dali a alguns dias, aquela terra
prometida que me parecia, à medida que eu falava, cada vez mais próxima, quase ao alcance da mão. Já não se viam as luzes, lá embaixo, do outro lado do lago?
Ela me interrompeu duas ou três vezes para me fazer perguntas: "O que é que vamos fazer na América? Como poderemos obter vistos? Com que dinheiro viveremos?" E eu
mal me dava conta, tão entretido estava com meu tema, de que sua voz se tornava cada vez mais pastosa. Ela estava com os olhos semicerrados ou mesmo fechados,
e de repente os abria arregaladamente e me examinava com uma expressão horrorizada. Não, nós não podíamos permanecer na França, naquele pequeno país sufocante,
em meio àqueles "degustadores" afogueados, aqueles ciclistas de corrida e aqueles gastrônomos dementes que sabiam diferenciar diversas espécies de peras. Eu sufocava
de raiva. Não podíamos permanecer nem um minuto mais naquele país onde se faziam caçadas, perseguições. Acabado. Nunca mais. As malas. Depressa.
Ela tinha adormecido. Sua cabeça tinha deslizado ao longo das barras da cama. Parecia ter cinco anos a menos, com as bochechas ligeiramente intumescidas, o sorriso
quase imperceptível. Tinha adormecido como acontecia quando eu lia para ela a História da Inglaterra mas, dessa vez, ainda mais depressa do que escutando Maurois.
Eu a olhava, sentado na borda da janela. Soltavam fogos de artificio em algum lugar.
Comecei a arrumar as malas. Eu tinha apagado todas as
138
luzes do quarto para não acordá-la, exceto a da cabeceira. Ia pegando as coisas dela e as minhas nas prateleiras.
Alinhei nossas malas abertas no assoalho do "salão". Ela tinha seis, de tamanhos diferentes. Com as minhas, eram 9, sem contar o baú. Juntei meus velhos jornais
e minhas roupas, mas as coisas dela era mais difícil arrumar e eu descobria um novo vestido, um vidro de perfume ou uma pilha de lenços quando achava que tinha
acabado tudo. O cachorro, sentado no sofá, acompanhava minhas idas e vindas com um olho atento.
Eu não tinha mais força para fechar aquelas malas e desabei numa cadeira. O cachorro tinha pousado o queixo na borda do sofá e me observava dali debaixo. Encaramos
demoradamente um ao outro no branco dos olhos.
O dia estava chegando e uma leve lembrança me veio. Quando tinha eu vivido momento parecido? Eu revia os móveis da décima sexta ou da décima sétima circunscrição
- rua Colonel-Moll, praça Villaret-de-Joyeuse, avenida GénéralBalfourier - onde as paredes tinham o mesmo papel que os quartos do Hermitage, onde as cadeiras e
camas lançavam a mesma desolação ao coração. Ternos lugares, pousos precários, que é sempre preciso evacuar antes que cheguem os alemães e que não guardam qualquer
vestígio seu.
Foi ela quem me acordou. Examinava, de boca aberta, as malas prestes a estourar.
- Por que você fez isso? Sentou-se sobre a mais gorda, de couro grená. Parecia exausta, como se tivesse me ajudado a fazer as malas durante toda a noite. Estava
com a saída de praia entreaberta nos seios.
Então, de novo, em voz baixa, falei da América. Surpreendi-me a escandir as frases e aquilo tornava-se uma melopéia.
Como argumento, contei a ela que o próprio Maurois, o escritor que ela admirava, tinha partido em 40 para a América. Maurois.
139
Maurois. Ela sacudiu a cabeça e me sorriu amavelmente. Estava de acordo. Partiríamos o mais depressa possível. Ela não queria me contrariar. Mas eu devia descansar.
Passou a mão em minha testa.
Eu tinha ainda tantos pequenos detalhes a considerar. Por exemplo, o visto do cachorro.
Ela me escutava sorrindo, sem se mexer. Falei durante horas e horas, e voltavam sempre as mesmas palavras: Algonquin, Brooklyn, companhia geral transatlântica,
Zukor, Goldwyn, Warner Bros, Bella Darvi... Ela ouviu, paciência.
- Você devia dormir um pouco - repetia de vez em quando.
Eu estava esperando. O que é que ela podia estar fazendo? Tinha me prometido estar na estação uma meia hora antes da chegada do expresso para Paris. Assim não
correríamos o risco de perdê-lo. Mas ele acabava de partir outra vez. E eu permanecia de pé, acompanhando o desfile cadenciado dos vagões. Atrás de mim, em volta
de um dos bancos, minhas malas e meu baú estavam dispostos em meio círculo, o baú em posição vertical. Uma luz seca desenhava sombras sobre a plataforma. E eu
sentia aquela impressão de vazio e de estupidez que sucede à passagem de um trem.
No fundo, eu estava ali esperando por mim. Teria sido incrível se as coisas tivessem acontecido de outro modo. Contemplei de novo minha bagagem. Trezentos ou quatrocentos
quilos que eu sempre carregava comigo. Por quê? Com esse pensamento, fui sacudido por uma gargalhada ácida.
O próximo trem viria à meia-noite e seis. Eu tinha mais de uma hora pela frente e saí da estação, deixando minha bagagem na plataforma. Seu conteúdo não interessaria
a ninguém. Além disso, era muito pesada para se deslocar.
Entrei no café em rotunda, ao lado do hotel de Verdun. Ele
140
se chamava dos Cadrans ou do Avenir? Jogadores de xadrez ocupavam as mesas do fundo. Uma porta de madeira marrom se abria para um salão de bilhar. O café era iluminado
por tubos de néon rosa vacilante. Eu ouvia a batida das bolas de bilhar a intervalos muito longos e a saraivada contínua do néon. Nada mais. Nem uma palavra.
Nem um suspiro. Foi em voz baixa que eu pedi uma infusão com hortelã.
De repente, a América me pareceu bastante distante. Albert, o pai de Yvonne, vinha aqui jogar bilhar? Gostaria de saber. Um torpor me tomava e reencontrei naquele
café a calma que tinha conhecido em casa da senhora Buffaz, nos Tilleuls. Por um fenômeno de alternância ou de ciclotimia, um sonho sucedia outro: eu já não me
imaginava com Yvonne na América, mas numa pequena cidade de província que se parecia estranhamente com Bayonne. Sim, morávamos na rua Thiers e nas noites de verão
íamos passear sob as arcadas do teatro ao longo das aléias Boufflers. Yvonne me dava o braço e ouvíamos a batida de bolas de tênis. No domingo à tarde, fazíamos
a volta das muralhas e nos sentávamos sobre um banco do jardim público, perto do busto de Léon Bonnat. Bayonne, cidade de repouso e de doçura, depois de tantos
anos de incerteza. Talvez não fosse tarde demais. Bayonne...
Eu a procurei por toda parte. Tentei achá-la na Sainte-Rose entre as inúmeras pessoas que jantavam e todas as que dançavam. Era uma noite que fazia parte do programa
de festividades da estação: a Noite Cintilante, acho. Sim, cintilante. Em jatos curtos, os confetes inundavam as cabeleiras e espáduas.
Na mesma mesa que ocupavam na noite da taça, reconheci Fossorié, os Roland-Michel, a mulher morena, o diretor do clube de golfe e as duas louras bronzeadas. Em
suma, não saíam do lugar há um mês. Só o penteado de Fossorié tinha mudado: uma primeira onda com brilhantina formava uma espécie de diadema em torno da testa.
Atrás, um buraco. E outra onda, muito ampla, passava bem em cima do crânio e caía em cascata
141
sobre a nuca. Não, eu não sonhava. Eles se levantam e andam para a pista de dança. A orquestra toca um paso doble. Eles se misturam aos outros dançarinos, lá,
sob a chuva de confetes. E aquilo tudo vira e volta em turbilhão e depois se dispersa em minha lembrança. Poeiras.
Uma mão sobre meu ombro. O gerente da casa, o tal Pulli. - Está procurando alguém, senhor Chmara? Ele fala cochichando no meu ouvido.
- Senhorita Jacquet... Yvonne Jacquet... Pronunciei esse nome sem grande esperança. Ele não deve saber de quem é. Tantas caras... Os clientes se sucedem noite
após noite. Se eu mostrasse uma fotografia, a reconheceria, com certeza. É preciso ter sempre consigo fotografias daqueles a quem se ama.
- Senhorita Jacquet? Acaba de sair na companhia do senhor Daniel Hendrickx...
- O senhor acha? Devo ter feito uma cara engraçada, inflando as bochechas, como uma criança a ponto de chorar, porque ele me segurou pelo braço.
- Claro que sim. Na companhia do senhor Daniel Hendrickx.
Ele não dizia "com", mas "na companhia de" e identifiquei nisso um preciosismo de linguagem comum na alta sociedade do Cairo e de Alexandria, quando o francês lá
era de rigor.
- Tomamos um drinque? - Não, tenho que pegar um trem à meia-noite e seis.
- Pois bem, acompanho o senhor à estação, Chmara. Ele me puxa pela manga. Mostra-se familiar, mas também respeitoso. Atravessamos a turba de dançarinos. Ainda
o paso doble. Os confetes agora caem em chuva contínua e me cegam. Eles riem, mexem-se muito a minha volta. Eu me apóio contra Fossorié. Uma das louras bronzeadas,
a que se chama Meg Devillers, pula em meu pescoço:
- Oh, o senhor... o senhor... o senhor... Ela não quer mais me largar. Arrasto-a dois ou três metros.
142
Consigo afinal me livrar. Voltamos a nos encontrar, Pulli e eu, no início da escada. Nossos cabelos e nossos casacos estão crivados de confetes.
- É a Noite Cintilante, Chmara. Ele dá de ombros. Seu carro está estacionado na frente da Sainte-Rose, no meio-fio da estrada do lago. Um Simca Chambord cuja
porta me abre cerimoniosamente.
- Entre neste calhambeque. Ele não dá logo a partida. - Eu tinha um conversível grande no Cairo. E ao léu: - Suas malas, Chmara? - Estão na estação. Rodávamos
há alguns minutos, quando perguntou: - Qual o seu destino? Não respondi. Ele diminuiu a marcha. Não passávamos dos trinta quilômetros por hora. Virou-se para
mim:
- ... As viagens... Permanecia em silêncio. Eu também. - É preciso afinal fixar-se em algum lugar, acabou dizendo. Ai de mim...
Contornávamos o lago. Olhei uma última vez as luzes, as do Veyrier bem na frente, a massa sombria de Carabacel no horizonte, diante de nós. Apertei os olhos para
ver a passagem do funicular. Mas não. Estávamos longe demais.
- O senhor vai voltar aqui, Chmara? - Não sei. - O senhor tem sorte de ir embora. Ah, essas montanhas... Designava a cadeia de Aravis, na distância, que estava
visível ao clarão da lua.
- Sempre se acha que vão lhe cair por cima. Eu me sinto sufocado, Chmara.
Essa confidência vinha diretamente do coração. Emocionou-me, mas eu não tinha força para consolá-lo. Ele era mais velho que eu, afinal.
143
Entramos na cidade seguindo a avenida Maréchal-Leclerc. Nas proximidades, a casa natal de Yvonne. Pulli dirigia perigosamente à esquerda, como os ingleses, mas
por sorte não havia trânsito no outro sentido.
- Estamos adiantados, Chmara. Ele tinha parado o Chambord na praça da Estação, na frente do hotel de Verdun.
Atravessamos o saguão deserto. Pulli nem precisou pegar um tíquete de plataforma. A bagagem continuava no mesmo lugar.
Sentamo-nos no banco. Mais ninguém, além de nós. O silêncio, a tepidez do ar, a iluminação tinham algo de tropical.
- É engraçado - constatou Pulli -, parece que estamos numa estaçãozinha de Ramleh...
Ele me ofereceu um cigarro. Fumamos gravemente, sem nada dizer. Acredito que cheguei a fazer, como desafio, umas argolas de fumaça.
- A senhorita Yvonne Jacquet saiu mesmo com o senhor Daniel Hendrickx? - perguntei numa voz calma.
- Saiu, mas por quê? Ele alisou o bigode preto. Suspeitei de que queria me dizer algo muito sentido e decisivo, mas não saiu. Sua testa se enrugava. Gotas de suor
com certeza lhe iriam correr pelas têmporas. Consultou seu relógio. Meia-noite e dois. Então, num esforço:
- Eu podia ser seu pai, Chmara... Escute-me... O senhor tem a vida pela frente... E preciso ter coragem...
Ele virava a cabeça para a esquerda, para a direita, para ver se o trem chegava.
- Eu mesmo, na minha idade... Evito olhar para o passado... Tento esquecer o Egito...
O trem entrava na estação. Ele o acompanhava com os olhos. Hipnotizado.
Quis me ajudar a subir a bagagem. Ia me passando as malas e eu as arrumava no corredor do vagão. Uma. Depois duas. Depois três.
144
Tivemos muita dificuldade com o baú. Ele deve ter distendido um músculo levantando e empurrando-o na minha direção, mas fazia aquilo com uma espécie de frenesi.
O empregado bateu as portinholas. Desci o vidro e me debrucei para fora. Pulli me sorriu.
- Não esqueça o Egito e boa sorte, old sport... Essas duas palavras em inglês em sua boca me surpreenderam. Ele agitava o braço. O trem se sacudia. Ele se deu conta
de repente de que tínhamos esquecido uma de minhas malas, de forma circular, perto do banco. Levantou-a, pôs-se a correr. Tentava alcançar o vagão. Afinal parou,
ofegante, e fez para mim um largo gesto de impotência. Estava com a mala na mão e se mantinha muito ereto debaixo das luzes da plataforma. Dirse-ia uma sentinela
que diminuía, diminuía. Um soldado de chumbo.
Uma pequena cidade da província francesa, à beira de um lago e próxima à Suíça.
É nessa estação de termas que, aos 18 anos, o narrador, um apátrida, veio se refugiar, para escapar de uma ameaça que sentia pairar a sua volta e combater osentimento de insegurança e pânico. Medo de uma guerra, de catástrofe iminente? Medo do mundo exterior? Ele se escondia, pois, no início daquele mês de julho, em meio a uma multidão de veranistas, quando conheceu dois seres de aparência misteriosa que o iriam arrastar.
Vila triste é a evocação, pelo narrador, daquele verão de quase 15 anos atrás e das figuras de Yvonne Jacquet e René Meinthe, em torno das quais passam, como pirilampos, Daniel Hendrickx, Pulli, Fossorié, Rolf Madéja e muitos outros. Ele tenta fazer reviver os rostos, a fragilidade dos instantes, as atmosferas daquela estação já distante. Mas tudo desfila e se desvela como se visto através do vidro de um trem, como a lembrança de uma miragem e de um cenário de papelão, perpassados por uma música em que se entrecruzam diversos temas: o desarraigado que em vão busca ligações, o tempo que passa e a juventude perdida.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VILA_TRISTE.jpg
I
Eles destruíram o hotel de Verdun. Era um prédio curioso, diante da estação, orlado por uma varanda cuja madeira apodrecia. Comerciantes em viagem vinham dormir
ali entre dois trens. Tinha a reputação de um hotel de passagem. O café vizinho, em forma de rotunda, também desapareceu. Chamava-se café dos Cadrans ou do Avenir?
Entre a estação e os gramados da praça Albert I havia agora um grande vazio.
A rua Royale, em si, não mudou, mas por causa do inverno e da hora tardia, tem-se a impressão, ao percorrê-la, de se atravessar uma cidade morta. Vitrines da livraria
Chez Clément Marot, de Horowitz, o joalheiro, Deauville, Genève, Le Touquet e da confeitaria inglesa Fidel-Berger... Mais longe, o salão de cabeleireiros René
Pigault. Vitrines de Henry à la Pensée. A maioria dessas lojas de luxo fecha fora da estação. Quando começam as arcadas, se vê brilhar, no fundo, à esquerda, o
néon vermelho e verde do Cintra. Na calçada oposta, na esquina da rua Royale e da praça do Pâquier, a Taverne, que a juventude freqüentava durante o verão. Ainda
é a mesma clientela hoje?
Nada mais resta do grande café, de seus lustres, de seus espelhos e das mesas com guarda-sóis que transbordavam pela calçada. Em torno de oito horas da noite,
eram idas e vindas de
mesa em mesa, grupos que se formavam. Gargalhadas. Cabelos louros. Tilintar de copos. Chapéus de palha. De vez em quando uma saída de praia acrescentava sua nota
sarapintada. Preparavam-se as festividades da noite.
À direita, lá embaixo, o Casino, uma construção branca e compacta, que só abre de junho a setembro. No inverno, a burguesia local joga bridge duas vezes por semana
na sala de bacará e o grill-room serve de local de reunião do Rotary Club da província. Atrás, o parque de Albigny desce num suave declive até o lago com seus
salgueiros-chorões, seu quiosque com música e o embarcadouro onde se toma o barco vetusto que faz ida-evolta entre as pequenas localidades à beira da água: Veyrier,
Chavoires, Saint-Jorioz, Éden-Roc, Port-Lusatz... Enumerações demais. Mas é preciso cantarolar certas palavras, incansavelmente, como cantiga de ninar.
Segue-se a avenida de Albigny, orlada de plátanos. Ela acompanha o lago e no momento em que se curva para a direita, distingue-se um portão de madeira branca: a
entrada do Sporting. De cada lado de uma aléia de cascalho, diversas quadras de tênis. Em seguida, basta fechar os olhos para lembrar da longa fileira de cabines
e da praia de areia que se estende por cerca de trezentos metros. No plano de fundo, um jardim inglês em torno do bar e do restaurante do Sporting, instalados
num antigo laranjal. Aquilo tudo forma quase uma ilha, que por volta de 1900 pertencia ao fabricante de automóveis GordonGramme.
Na altura do Sporting, do outro lado da avenida de Albigny, começa o bulevar Carabacel. Ele sobe, num cordão, até os hotéis Hermitage, Windsor e Alhambra, mas se
pode também pegar o funicular. No verão, funciona até meia-noite e se espera por ele numa pequena estação que tem o aspecto exterior de um chalé. Aqui, a vegetação
é mista e já não sabemos se estamos nos Alpes, na borda do Mediterrâneo ou mesmo nos trópicos. Pinheiros guarda-sóis. Mimosas. Abetos. Palmeiras. Seguindo o bulevar
pelo flanco da colina, descobre-se o panorama: o lago
10
inteiro, a cadeia de Aravis e, do outro lado da água, aquele país fugidio que se chama Suíça.
O Hermitage e o Windsor abrigam apenas apartamentos mobiliados. Não destruíram, porém, a porta rotativa do Windsor e a vidraça que prolongava o saguão do Hermitage.
Lembrem-se: ela era tomada de buganvílias. O Windsor datava dos anos 1910 e sua fachada branca tinha o mesmo aspecto de merengue que as do Ruhl e do Negresco em
Nice. O Hermitage, de cor ocre, era mais sóbrio e mais majestoso. Lembrava o hotel Royal de Deauville. Sim, como um irmão gêmeo. Foram mesmo convertidos em apartamentos?
Luz alguma nas janelas. Seria preciso ter a coragem de atravessar os saguões escuros e galgar as escadarias. Talvez então se percebesse que ninguém mora aqui.
O Alhambra, esse, foi arrasado. Mais nenhum vestígio dos jardins que o cercavam. Eles vão, com certeza, construir um hotel moderno em seu lugar. Um breve esforço
de memória: no verão, os jardins do Hermitage, do Windsor e do Alhambra muito se aproximavam da imagem que se pode ter do éden perdido ou da terra prometida.
Mas em qual dos três havia aquele imenso canteiro de dálias e aquela balaustrada onde as pessoas se apoiavam para olhar o lago, lá embaixo? Pouco importa. Teremos
sido as últimas testemunhas de um mundo.
É muito tarde, inverno. Distingue-se mal, do outro lado do lago, as luzes molhadas da Suíça. Da vegetação luxuriante de Carabacel, restam apenas algumas árvores
mortas e tufos mirrados. As fachadas do Windsor e do Hermitage estão negras e como que calcinadas. A cidade perdeu seu verniz cosmopolita e veranil. Reduziu-se
às dimensões de uma capital de província. Uma cidadezinha escondida no fundo da província francesa. O tabelião e o subprefeito jogam bridge no Casino desativado.
Madame Pigault igualmente, a diretora do salão de cabeleireiros, quarentona loura e perfumada de Shocking. Ao lado dela, Fournier filho, cuja família tem três fábricas
de têxteis em Faverges, e Servoz, dos laboratórios farmacêuticos de Chambéry, excelente jogador de golfe. Parece que a senhora Servoz, morena
como a senhora Pigault é loura, circula sempre ao volante de uma BMW entre Genebra e sua vila em Chavoires, e gosta muito de gente nova. É freqüentemente vista
com Pimpin Lavorel. E poderíamos dar mil outros detalhes igualmente insípidos, igualmente constrangedores sobre a vida cotidiana dessa pequena cidade, porque as
coisas e as pessoas com certeza não mudaram em 12 anos.
Os cafés estão fechados. Uma luz cor-de-rosa se filtra através da porta do Cintra. Querem que entremos para verificar se os lambris de acaju não mudaram, se a lâmpada
do abajur escocês está no lugar, do lado esquerdo do bar? Não retiraram as fotografias de Émile Allais, tiradas em Engelberg quando ele trouxe o campeonato mundial.
Nem as de James Couttet. Nem a foto de Daniel Hendrickx. Estão alinhadas por cima das filas de aperitivos. Amarelaram, é claro. E na semipenumbra, o único cliente,
um homem afogueado, usando um casaco xadrez, bolina distraidamente a garçonete. Ela tinha uma beleza ácida no início dos anos sessenta, mas depois, ficou pesada.
Ouve-se o barulho dos próprios passos na rua Sommeiller deserta. À esquerda, o cinema Régent continua idêntico a si mesmo: sempre esse reboco cor de laranja e
as letras Régent em caracteres ingleses de cor granada. Eles deviam pelo menos modernizar a sala, mudar as poltronas de madeira e os retratos Harcourt das vedetes
que decoravam a entrada. A praça da Estação é o único local da cidade onde brilham algumas luzes e onde ainda reina um pouco de animação. O expresso para Paris
passa à meia-noite e seis. Os soldados em licença da caserna Berthollet chegam em pequenos grupos ruidosos, com a mala de metal ou papelão na mão. Alguns cantam
Meu belo pinheiro: a aproximação do Natal, sem dúvida. Na plataforma n22 eles se aglutinam, se dão tapas nas costas. Dir-se-ia que partem para ofront. Em meio
a todos aqueles capotes militares, um terno civil de cor bege. O homem que o veste não parece padecer de frio; tem em volta do pescoço um lenço de seda verde,
que aperta com a mão nervosa. Ele vai de grupo em grupo,
12
vira a cabeça da esquerda para a direita com uma expressão esgazeada, como se procurasse um rosto no meio daquela multidão. Ele acaba de interrogar um militar,
mas este e seus dois companheiros o inspecionam dos pés à cabeça, zombeteiros. Outros soldados se voltaram e assobiam a sua passagem. Ele finge não prestar atenção
alguma e mordisca uma piteira. Agora, encontra-se à parte, em companhia de um jovem caçador alpino todo louro. Este parece aborrecido e de vez em quando lança
olhares
furtivos a seus camaradas. O outro se apóia sobre seu ombro e lhe sussurra alguma coisa ao ouvido. O jovem caçador alpino tenta libertar-se. Então, ele lhe passa
um envelope para o bolso do casacão, olha-o sem nada dizer e, como começa a nevar, levanta a gola do casaco.
Esse homem se chama René Meinthe. Leva bruscamente a mão esquerda à testa, e lá a deixa, feito viseira, gesto que lhe era familiar, há 12 anos. Como envelheceu...
O trem chegou à estação. Eles entram de assalto, acotovelam-se pelos corredores, descem os vidros, passam as malas. Alguns cantam É apenas um adeus..., mas a maioria
prefere urrar Meu belo pinheiro... Neva mais forte. Meinthe se mantém de pé, imóvel, com a mão na testa. O jovem lourinho, detrás do vidro, examina-o com um sorriso
um tanto mau no canto dos lábios. Toca no boné de caçador alpino. Meinthe lhe faz um sinal. Os vagões desfilam levando as pencas de militares a cantar e agitar
os braços.
Ele afundou as mãos nos bolsos do casaco e se dirige para o restaurante da estação. Os dois garçons arrumam as mesas e varrem à volta delas com largos gestos indolentes.
No bar, um homem de impermeável arruma os últimos copos. Meinthe pede um conhaque. O homem lhe responde num tom seco que não está mais servindo. Meinthe pede
de novo um conhaque.
- Aqui - responde o homem, arrastando as sílabas - não servimos bichas.
E os outros dois, atrás, caíram na gargalhada. Meinthe não se mexe, fixa um ponto diante de si, com ar cansado. Um dos
13
garçons apagou os apliques da parede esquerda. Resta somente uma zona de luz amarelada, em volta do bar. Eles esperam de braços cruzados. Vão quebrar a cara dele?
Quem sabe? Talvez Meinthe vá bater com a palma da mão no balcão gorduroso e gritar: " Sou a rainha Astrid, a RAINHA DOS BELGAS!", com a inclinação e o riso insolente
de outrora.
O que fazia eu aos 18 anos à beira desse lago, nessa famosa estação termal. Nada. Morava numa pensão familiar, dos Tilleuls, no bulevar Carabacel. Eu poderia ter
escolhido um quarto na cidade, mas preferia me ver nas alturas, a dois passos do Windsor, do Hermitage e do Alhambra, cujo luxo e densos jardins me davam segurança.
Eu morria de medo, sentimento que depois nunca me deixou; mas era bem mais vivo e irracional naquela época. Eu tinha fugido de Paris com a idéia de que aquela cidade
tornavase perigosa para pessoas como eu. Lá reinava um ambiente policial desagradável. Ataques demais para meu gosto. Bombas explodiam. Eu gostaria de dar uma precisão
cronológica e, uma vez que os melhores pontos de referência são as guerras, de que guerra, de fato, se tratava? Da que se chamava Argélia, bem no início dos anos
sessenta, época em que se andava de carro conversível na Flórida e as mulheres se vestiam mal. Os homens também. Eu, tinha medo, mais ainda do que hoje e tinha
escolhido esse lugar como refúgio porque estava situado a cinco quilômetros da Suíça. Bastava atravessar o lago, ao menor alarme. Em minha ingenuidade, eu acreditava
que quanto mais a gente se aproxima da Suíça mais chances tem de escapar. Eu ainda não sabia que a Suíça não existe.
A "estação" tinha começado em 15 de junho. As galas e festividades iam se suceder. Jantar dos "Embaixadores" no Casino. Turnê de canto de Georges Ulmer. Três apresentações
de Escutem bem, senhores. Fogos de artificio no 14 de julho, lançados do golfo de Chavoires, balés do marquês de Cuevas e outras coisas ainda que me retornariam
à memória se eu tivesse à mão o programa editado pelo departamento de turismo. Conservei-o e estou certo de tê-lo encontrado entre as páginas de um dos livros
que li este ano. Qual? Fazia um tempo "soberbo" e os freqüentadores previam sol até outubro.
Só muito raramente eu ia tomar banho. Em geral, passava meus dias no saguão e nos jardins do Windsor e acabava me convencendo de que ali, pelo menos, não me expunha
a risco algum. Quando o pânico me tomava - uma flor que abria lentamente suas pétalas, um pouco acima do umbigo - eu olhava a minha frente, para o outro lado do
lago. Dos jardins do Windsor, percebia-se um vilarejo. Cinco quilômetros, se tanto, em linha reta. Poder-se-ia vencer essa distância a nado. À noite, com uma
pequena lancha a motor, levaria uns vinte minutos. Mas é claro. Eu tentava me acalmar. Cochichava, articulando as sílabas: "À noite, com uma pequena lancha a motor..."
Ficava tudo melhor, eu retomava a leitura de meu romance ou de uma revista inofensiva (tinha me proibido de ler jornais e ouvir noticiários no rádio. Toda vez que
ia ao cinema, tinha o cuidado de chegar depois das Atualidades). Não, acima de tudo, nada saber sobre a sorte do mundo. Não agravar esse medo, esse sentimento de
catástrofe iminente. Interessar-se apenas pelas coisas anódinas: moda, literatura, cinema, music-hall. Esticar-se nas grandes espreguiçadeiras, fechar os olhos,
relaxar, acima de tudo relaxar. Esquecer.
Por volta do fim da tarde, eu descia à cidade. Avenida de Albigny, sentava-me num banco e acompanhava a agitação à borda do lago, o tráfego dos pequenos veleiros
e pedalinhos. Era reconfortante. Por cima, as folhas dos plátanos me protegiam. Eu seguia meu caminho a passos lentos e precavidos. Praça
16
do Pâquier, sempre escolhia uma mesa recuada na varanda da Taverne e pedia sempre Campari com soda. E contemplava toda aquela juventude a minha volta, à qual,
aliás, eu pertencia. Eram em número cada vez maior, à medida que a hora passava. Ainda escuto seus risos, lembro os topetes jogados nos olhos. As meninas usavam
calças pescador e shorts de vichy. Os meninos não desprezavam o blazer com escudo e o colarinho da camisa aberto com um lenço. Usavam cabelo curto, o chamado corte
"Rond-Point". Preparavam suas festas. As meninas chegavam com vestidos apertados na cintura, muito rodados, e sapatilhas. Esperta e romântica juventude que mandariam
para a Argélia. Eu não.
Às oito horas, eu voltava para jantar na casa dos Tilleuls. Aquela pensão familiar, cujo exterior, em minha opinião, lembrava um pavilhão de caça, recebia, todo
verão, uma dezena de freqüentadores. Todos eles tinham ultrapassado os sessenta e minha presença, inicialmente, os irritava. Mas eu respirava muito discretamente.
Com uma grande economia de gestos, um olhar voluntariamente terno, um rosto congelado - bater o menos possível as pálpebras - esforçava-me para não agravar uma
situação já precária. Eles perceberam minha boa vontade e acho que acabaram me vendo com melhores olhos.
Fazíamos as refeições numa sala de jantar em estilo saboiano. Eu teria podido iniciar uma conversa com meus vizinhos mais próximos, um velho casal bem cuidado que
vinha de Paris, mas por certas alusões, achei ter escutado que o homem era ex-inspetor de polícia. Os outros jantavam também aos casais, exceto um senhor de bigode
fino e cara de cocker spaniel, que dava a impressão de ter sido abandonado ali. Pelo zunzum das conversas, eu o escutava às vezes soltar breves soluços que pareciam
latidos. Os hóspedes passavam para o salão e se sentavam suspirando nas poltronas estofadas de cretone. A senhora Buffaz, proprietária dos Tilleuls, servia uma infusão
ou um digestivo qualquer. As mulheres falavam entre si. Os homens jogavam uma partida de canastra. O senhor com cara de
17
cachorro acompanhava a partida, sentado recuadamente, depois de ter tristemente acendido um havana.
E eu ficaria de boa vontade ali com eles, na luz doce e tranqüilizante das lâmpadas do abajur de seda rosa-salmão, mas teria sido necessário lhes falar ou jogar
canastra. Será que aceitariam que eu estivesse lá, sem nada dizer, olhando-os? Eu descia outra vez à cidade. Às nove horas e 15 minutos, precisamente - logo depois
das Atualidades - entrava na sala do cinema Régent ou então optava pelo cinema do Casino, mais elegante e mais confortável. Encontrei um programa do Régent que
data daquele verão.
CINEMA RÉGENT
De 15 a 23 de junho: Terna e violenta Elisabeth de H. Decoin De 24 a 30 de junho: Ano passado em Marienbad de A. Resnais De 12 a 8 de julho: R.P.Z. chama Berlim
de R. Habib De 9 a 16 de julho: O testamento de Orfeu de J. Cocteau De 17 a 24 de julho: O capitão Bamba de P. Gaspard-Huit De 25 de julho a 2 agosto: Quem
é o senhor, Sorge? de Y. Ciampi De 3 a 10 de agosto: A noite de M. Antonioni De lia 18 de agosto: O mundo de Suzie Wong De 19 a 26 de agosto: O círculo vicioso
de M Pecas De 27 de agosto a 3 de setembro: O bosque dos amantes de C. Autant-Lara.
Eu reveria de bom grado algumas cenas desses velhos filmes.
Depois do cinema, ia de novo beber um Campari na Taverne. Os jovens já tinham desertado. Meia-noite. Deviam estar dançando em algum lugar. Eu observava aquelas
cadeiras todas, as mesas vazias e os garçons que punham para dentro os guarda-sóis. Fixava o grande jato d'água luminoso do outro lado da praça, diante da entrada
do Casino. Ele mudava de cor sem cessar. Eu me divertia contando quantas vezes virava verde. Um passatempo, como outro qualquer, não é ? Uma vez, duas vezes,
três vezes. Quando chegava ao número 53, eu me levantava. Mas, na maior parte das vezes, nem me dava o trabalho de fazer essa brincadeira. Eu cismava, bebendo pequenos
goles mecânicos. Lembram-se de Lisboa durante a guerra? Todos aqueles sujeitos abatidos nos bares e no saguão do hotel Aviz, com malas e baús, esperando um navio
que não viria? Pois bem, eu tinha a impressão, vinte anos depois, de ser um deles.
As raras vezes em que usava meu terno de flanela e minha única gravata (gravata azul-noite semeada de flores-de-lis que um americano me deu em cujo avesso estavam
bordadas as palavras "International Bar Fly". Fiquei sabendo mais tarde que se tratava de uma sociedade secreta de alcoólatras. Graças a essa gravata podiam reconhecer
uns aos outros e prestar pequenos favores), acontecia de eu entrar no Casino e ficar alguns minutos no umbral do Brummel para ver o pessoal dançando. Eles tinham
entre trinta e sessenta anos, e se notava, às vezes, uma menina mais nova em companhia de um esbelto qüinquagenário. Clientela internacional, bastante "chique"
e que ondulava com os sucessos italianos ou acordes do calipso, aquela dança da Jamaica. Em seguida, eu subia até o salão de jogos. Às vezes assistíamos a grandes
apostas. Os jogadores mais faustosos vinham da Suíça tão próxima. Lembro-me de um egípcio muito tenso, de cabelo ruivo lustroso e olhos de gazela, que acariciava
pensativamente com o indicador seu bigode de major inglês. Ele jogava fichas de cinco milhões e diziam-no primo do rei Faruk.
19
Sentia alívio de me encontrar outra vez ao ar livre. Voltava lentamente na direção de Carabacel pela avenida de Albigny. Nunca tinha visto noites tão belas, tão
límpidas, como naquela época. As luzes das vilas à beira do lago tinham uma cintilação que ofuscava os olhos e nelas eu ouvia alguma coisa de musical, um solo
de saxofone ou de trumpete. Eu percebia também, muito leve, imaterial, o farfalhar dos plátanos da avenida. Esperava o último funicular sentado no banco de ferro
do chalé. A sala era iluminada apenas por uma vigia e eu me permitia deslizar, com uma sensação de confiança total, para dentro daquela penumbra violácea. O que
eu podia temer? O ruído das guerras, o fragor do mundo, para chegar até aquele oásis de férias, tinham que atravessar uma parede acolchoada. E quem teria a idéia
de vir me procurar entre os distintos veranistas?
Eu descia na primeira estação: Saint-Charles-Carabacel e o funicular continuava subindo, vazio. Parecia um verme gordo brilhante.
Eu atravessava o corredor dos Tilleuls na ponta dos pés, depois de ter tirado os mocassins, pois os velhos têm o sono leve.
20
Ela estava sentada no saguão do Hermitage, num dos grandes sofás do fundo e não tirava os olhos da porta rotativa, como se esperasse por alguém. Eu ocupava uma
poltrona a dois ou três metros dela, e a via de perfil.
Cabelo acobreado. Vestido de xantungue verde. E os sapatos de salto agulha que as mulheres usavam. Brancos.
Um cachorro estava deitado aos pés dela. Ele bocejava e se espreguiçava de vez em quando. Um dogue alemão, imenso e linfático com manchas pretas e brancas. Verde,
ruivo, branco, preto. Essa combinação de cores me causava uma espécie de entorpecimento. Como fiz para me ver ao lado dela, no sofá? Quem sabe o dogue alemão
tenha servido de intermediário, ao vir, em seu andar preguiçoso, cheirar-me?
Reparei que ela tinha os olhos verdes, manchas muito ligeiras de rubor e que era um pouco mais velha do que eu.
Passeamos naquela manhã nos jardins do hotel. O cachorro abria o cortejo. Seguíamos uma aléia recoberta por uma cúpula de clematites com grandes flores cor de malva
e azuis. Eu afastava as folhagens em cachos dos cítisos; bordejávamos gramados e moitas de alfena. Havia - se minha memória for boa - plantas de pedrinhas em tons
de geada, espinheiros cor-de-
21
rosa, uma escada ladeada de bacias vazias. E o imenso canteiro de dálias amarelas, vermelhas e brancas. Debruçamo-nos na balaustrada e olhamos o lago, embaixo.
Nunca pude saber exatamente o que ela tinha pensado de mim durante esse primeiro encontro. Talvez me tenha tomado por um rapaz de família milionário que se entediava.
O que a divertiu, em todo caso, foi o monóculo que eu usava no olho direito para ler, não por dandismo ou afetação, mas porque eu via muito menos com esse olho
que com o outro.
Não falamos. Ouço o murmúrio de um esguicho d'água que gira, no meio do gramado mais próximo. Alguém desce a escada em nosso encalço, um homem, cujo terno amarelo
pálido distingui de longe. Ele nos faz um aceno com a mão. Está de óculos escuros e enxuga a testa. Ela me apresenta a ele pelo nome de René Meinthe. Ele logo
retifica: "doutor Meinthe", ressaltando as duas sílabas da palavra doutor. E afeta um sorriso. Devo me apresentar, por minha vez: Victor Chmara. É o nome que escolhi
para preencher minha ficha de hotel em casa dos Tilleuls.
- O senhor é amigo da Yvonne? Ela responde que acaba de me conhecer no saguão do Hermitage e que leio com monóculo. Decididamente, isso muito a diverte. Ela me
pede que eu ponha o monóculo para mostrálo ao doutor Meinthe. Faço-o. "Muito bem", diz Meinthe, balançando a cabeça com ar pensativo.
Então ela se chamava Yvonne. Mas e o sobrenome? Esqueci. Bastam, portanto, 12 anos, para a gente esquecer o estado civil das pessoas que foram importantes em nossa
vida. Era um nome suave, muito francês, algo parecido com Coudreuse, Jacquet, Lebon, Mouraille, Vincent, Gerbault...
René Meinthe, à primeira vista, era mais velho do que nós. Em torno de trinta anos. De estatura mediana, tinha um rosto redondo e nervoso e os cabelos louros puxados
para trás.
22
Tornamos a ganhar o hotel atravessando uma parte do jardim que eu não conhecia. As aléias de cascalho eram aí retilíneas, os gramados simétricos e cortados à inglesa.
Em volta de cada um deles flutuavam platibandas de begônias ou gerânios. E sempre o doce, reconfortante murmúrio dos jatos d'água que regavam o canteiro. Pensei
nas Tulherias de minha infância. Meinthe nos propôs tomar um drinque e depois almoçar no Sporting.
Minha presença lhes parecia completamente natural e se poderia jurar que nos conhecíamos desde sempre. Ela me sorria. Falávamos de coisas insignificantes. Eles
não me faziam nenhuma pergunta, mas o cachorro punha a cabeça contra meus joelhos e me observava.
Ela se levantou dizendo que ia buscar um lenço no quarto. Então estava hospedada no Hermitage? O que fazia aqui? Quem era ela? Meinthe tinha tirado do bolso uma
piteira e mordiscava. Então notei que era cheio de tiques. A longos intervalos, a maçã esquerda do rosto crispava-se como se tentasse segurar um monóculo invisível,
mas os óculos escuros escondiam pela metade esse tremor. Às vezes esticava o queixo para a frente e poder-se-ia imaginar que estava provocando alguém. Por fim,
seu braço direito de vez em quando era sacudido por uma descarga elétrica que se comunicava à mão e esta traçava arabescos no ar. Todos esses tiques se coordenavam
entre si de uma maneira muito harmoniosa e conferiam a Meinthe uma elegância inquieta.
- O senhor está de férias? Eu respondi que sim. E tinha sorte de estar fazendo um tempo tão "ensolarado". E eu achava aquele lugar de férias "paradisíaco".
- É a primeira vez que o senhor vem? Não conhecia? Percebi uma ponta de ironia em sua voz e me permiti lhe perguntar por minha vez se ele próprio passava as férias
aqui. Ele hesitou.
- Oh, não exatamente. Mas conheço este lugar há muito
23
tempo... - Estendeu o braço casualmente na direção de um ponto no horizonte e, numa voz frouxa:
- As montanhas... O lago... O lago... Tirou os óculos escuros e pousou sobre mim um olhar doce e triste. Sorria.
- Yvonne é uma menina maravilhosa - disse ele. Ma-ra-vi-lho-sa.
Ela andava na direção de nossa mesa, com um lenço de musselina verde amarrado em volta do pescoço. Ela me sorria e não tirava os olhos de mim. Alguma coisa se
dilatava do lado esquerdo de meu peito, e decidi que aquele era o dia mais lindo de minha vida.
Entramos no automóvel de Meinthe, um velho Dodge creme, conversível. Sentamo-nos os três no banco da frente, Meinthe ao volante, Yvonne no meio e o cachorro atrás.
Ele deu a partida brutalmente, o Dodge derrapou no cascalho e quase esfolou o portão do hotel. Seguimos lentamente o bulevar Carabacel. Eu não escutava mais o
barulho do motor. Meinthe o tinha cortado para descer na banguela? Os pinheiros guardasóis. dos dois lados da estrada, cortavam os raios de sol e isso produzia
um jogo de luzes. Meinthe assobiava, eu me deixava embalar por um ligeiro balanço e a cabeça de Yvonne pousava a cada curva sobre meu ombro.
No Sporting, estávamos a sós na sala do restaurante, aquele antigo laranjal protegido do sol por um salgueiro-chorão e tufos de rododendros. Meinthe explicava
a Yvonne que tinha de ir a Genebra e voltaria à noite. Pensei que eram irmãos. Mas não. Não se pareciam nada.
Um grupo de umas 12 pessoas entrou. Escolheram a mesa vizinha a nossa. Vinham da praia. As mulheres vestiam marinheiras em tecido de espuma colorido, os homens,
roupões de banho. Um deles, mais alto e mais atlético do que os outros, com o cabelo louro ondulado, falava alto. Meinthe tirou os óculos
24
escuros. Ficou muito pálido, de repente. Apontou o louro alto com o dedo e uma voz superaguda, quase num assobio:
- Aí, lá está a Carlton... A maior POR-CA-LHO-NA da região...
O outro fez que não ouviu, mas seus amigos viraram-se para nós, de boca aberta.
Entendeu o que eu disse, a Carlton? Durante alguns segundos, fez-se um silêncio absoluto na sala do restaurante. O louro atlético estava de cabeça baixa. Seus
vizinhos, petrificados. Yvonne, ao contrário, não tinha se mexido, como se estivesse habituada a tais incidentes.
- Não tenha medo - sussurrou Meinthe, inclinando-se em minha direção -, não é nada, absolutamente nada...
Seu rosto tinha ficado liso, infantil, não se notava nem mais um tique. Retomamos a conversa e ele perguntou a Yvonne o que queria que ele lhe trouxesse de Genebra.
Chocolate? Cigarros turcos?
Ele nos deixou diante da entrada do Sporting, dizendo que poderíamos nos reencontrar por volta das nove horas da noite, no hotel. Yvonne e ele falaram de um tal
de Madeja (ou Madeya), que estava organizando uma festa, numa vila, à beira do lago.
- O senhor vem conosco, hein? - perguntou Meinthe. Eu o olhava caminhar em direção ao Dodge e ele avançava por meio de sucessivas sacudidelas elétricas. Ele deu
a partida, como da primeira vez, cantando pneu e, mais uma vez, o automóvel roçou o portão antes de desaparecer. Ele erguia o braço para nós, sem virar a cabeça.
Eu estava sozinho com Yvonne. Ela me propôs dar uma volta nos jardins do Casino. O cachorro andava na frente, cada vez mais mole. Às vezes, sentava-se no meio
da aléia e era preciso gritar seu nome, "Oswald", para que consentisse em seguir caminho. Ela me explicou que não era a preguiça, mas a
25
melancolia que lhe dava aquele ar casual. Ele pertencia a uma variedade muito rara de dogues alemães, todos tomados de uma tristeza e de um tédio vital congênitos.
Alguns chegavam a se suicidar. Eu quis saber por que tinha escolhido um cachorro de humor tão sombrio.
- Porque são mais elegantes que os outros - explicou ela com vivacidade.
Logo pensei na família dos Habsburgos, que tinha contado entre suas fileiras certos seres delicados e hipocondríacos como aquele cão. Punha-se aquilo na conta dos
casamentos consangüíneos e chamavam seu estado depressivo de "melancolia portuguesa".
- Esse cachorro - disse eu - sofre de "melancolia portuguesa". - Mas ela não ouviu.
Chegamos diante do embarcadouro. Umas dez pessoas subiam a bordo do Amiral-Guisand. Tiravam o passadiço. Apoiadas na rede de proteção, crianças agitavam as mãos,
gritando. O barco se distanciava e tinha um charme colonial e decaído.
- Uma tarde - disse Yvonne - teremos que andar nesse barco. Vai ser divertido, você não acha?
Ela me chamava de você pela primeira vez, e tinha dito essa frase com um entusiasmo inexplicável. Quem era ela? Eu não ousava perguntar.
Nós seguimos a avenida de Albigny e as folhagens dos plátanos nos ofereciam suas sombras. Estávamos sozinhos. O cão nos antecedia uns vinte metros. Ele já nada
tinha de sua languidez habitual, e andava de modo altivo, com a cabeça erguida, fazendo às vezes umas viradas bruscas e desenhando movimentos de quadrilha, à
maneira dos cavalos de carrossel.
Sentamo-nos à espera do funicular. Ela pousou a cabeça em meu ombro e eu experimentei a mesma vertigem que tinha sentido quando descíamos de carro o bulevar Carabacel.
Ainda a ouvir dizer: "Uma tarde... andar... barco... divertido, você não acha?", com seu sotaque indefinível, que eu me questionava se era húngaro, inglês ou
saboiano. O funicular subia lentamente e
26
a vegetação, dos dois lados da via, parecia cada vez mais densa. Ela ia nos engolir. Os cachos de flores se amassavam de encontro aos vidros e, de vez em quando,
uma rosa ou um galho de alfena era levado na passagem.
Em seu quarto, no Hermitage, a janela estava entreaberta e eu ouvia a batida regular das bolas de tênis, as exclamações distantes dos jogadores. Se ainda existiam
gentis e reconfortantes imbecis de roupa branca lançando bolas por cima de uma rede, isso queria dizer que a terra continuava girando e que tínhamos algumas horas
de prazo.
Sua pele estava semeada de manchas de rubor muito leves. Combatia-se na Argélia, ao que parecia.
A noite. E Meinthe que nos esperava no saguão. Vestia um terno de linho branco e um lenço turquesa impecavelmente amarrado em torno do pescoço. Ele tinha trazido
cigarros de Genebra e insistia que experimentássemos. Mas nós não tínhamos nem um instante a perder - dizia ele - senão estaríamos atrasados para a casa de Madeja
(ou Madeya).
Dessa vez, descemos com toda pressa o bulevar Carabacel. Meinthe, com a piteira nos lábios, acelerava nas curvas, e ignoro por que milagre chegamos sãos e salvos
à avenida de Albigny. Voltei-me para Yvonne e fiquei surpreso pois seu rosto não exprimia medo algum. Cheguei a ouvi-la rir num momento em que o automóvel deu
um giro.
Quem era esse Madeja (ou Madeya) a cuja casa estávamos indo? Meinthe me explicou que se tratava de um cineasta austríaco. Ele acabava de rodar um filme na região
- exatamente em La Clusaz - uma estação de esqui, a vinte quilômetros de distância, e Yvonne tinha atuado nele. Meu coração bateu.
- A senhora faz cinema? - perguntei a ela. Ela riu.
27
- Yvonne vai se tornar uma grande atriz - declarou Meinthe, apertando fundo o acelerador.
Ele falava a sério? A-triz de ci-ne-ma. Talvez eu já tivesse visto a fotografia dela na Cinémonde ou naquele Anuário do cinema, descoberto no fundo de uma velha
livraria de Genebra e que eu folheava durante minhas noites de insônia. Acabei gravando o nome e o endereço dos atores e "técnicos". Hoje alguns fragmentos me
vêm à memória:
JUNTE ASTOR: Fotografia Bernard e Vauclair. Rua BuenosAyres, 1- Paris - VIP.
SABINE GuY: Fotografia Teddy Piaz. Comédia - Turnê de canto - Dança.
Filmes: Os clandestinos..., Os velhinhos fazem a lei... Senhorita Catástrofe..., A polca das algemas... Bom dia, doutor etc.
GORDINE (FILMES SACHA): Rua Spontini, 19 - Paris - XVI KLE. 77-94. Sr. Sacha Gordine, GER.
Yvonne tinha um "nome de cinema" que eu conhecia? A minha pergunta, ela murmurou: "É um segredo" e pôs o indicador sobre os lábios. Meinthe acrescentou, com um
riso agudo inquietante:
- O senhor compreende, ela está aqui incógnita. Íamos pela estrada da beira do lago. Meinthe tinha diminuído a marcha e ligado o rádio. O ar estava quente e deslizávamos
através de uma noite sedosa e clara como jamais vi depois, exceto no Egito ou na Flórida de meus sonhos. O cachorro tinha apoiado o queixo na parte côncava de meu
ombro e seu bafo me queimava. À direita, os jardins desciam até o lago. A partir de Chavoire, a estrada era orlada de palmeiras e de pinheiros guarda-sóis.
Nós passamos o vilarejo de Veyrier-du-Lac e nos metemos num caminho em declive. O portão ficava em nível inferior da estrada. Sobre uma placa de madeira, esta inscrição:
"Villa les Tilleuls"(o mesmo nome de meu hotel). Uma aléia de
28
cascalho bastante grande, ladeada de árvores e de uma massa de vegetação abandonada, levava à entrada da casa, grande edifício branco em estilo Napoleão III, com
portas
cor-de-rosa. Alguns automóveis estavam estacionados uns de encontro aos outros. Atravessamos o vestíbulo para desembocar numa peça que devia ser o salão. Lá, na
luz peneirada que duas ou três lâmpadas difundiam, vislumbrei umas dez pessoas, umas de pé junto às janelas, outras embaixo, sobre um sofá branco, o único móvel,
parecia. Eles se dedicavam a beber e mantinham conversas animadas, em alemão e em francês. Um pick-up colocado ali mesmo no assoalho difundia uma melodia lenta a
que se misturava a voz muito grave de um cantor repetindo:
Oh, Bionda gari... Oh, Bionda girl... Bionda girl...
Yvonne tinha me segurado o braço. Meinthe lançava olhares rápidos em torno de si, como se procurasse alguém, mas os membros daquela reunião não prestavam a menor
atenção em nós. Pela porta da sacada alcançamos uma varanda com balaustrada de madeira verde onde se encontravam espreguiçadeiras e poltronas de vime. Uma lanterna
chinesa desenhava sombras complicadas em forma de renda e entrelaços e se podia dizer que os rostos de Yvonne e de Meinthe tinham sido bruscamente encobertos
por pequenos véus.
Embaixo, no jardim, diversas pessoas se apertavam em torno de um bufê que parecia que ia desabar de tanta comida. Um homem muito alto e muito louro nos acenava
e caminhava em nossa direção, apoiando-se numa bengala. Sua camisa de linho bege, muito aberta, parecia uma túnica do Saara, e eu pensava naqueles personagens
que se encontravam antigamente nas colônias e que tinham um "passado". Meinthe me apresentou a ele: Rolf Madeja, o "diretor". Ele se inclinou para beijar Yvonne
e pousou a mão no ombro de Meinthe. Chamava-o de "Menthe", com um sotaque mais britânico do que alemão.
29
Levou-nos em direção ao bufê e aquela mulher loura, também alta como ele, aquela Walkiria de olhar afogado (ela nos fixava sem nos ver, ou então contemplava alguma
coisa através de nós), era sua esposa.
Tínhamos deixado Meinthe em companhia de um jovem com fisico de alpinista e íamos, Yvonne e eu, de grupo em grupo. Ela beijava todo mundo e quando lhe perguntavam
quem eu era, ela respondia: "um amigo." Pelo que entendi, a maior parte daquelas pessoas tinha participado do "filme". Dispersaram-se pelo jardim. Aí tudo se
via muito bem devido ao clarão da lua. Seguindo as atéias invadidas pelo capim, descobria-se um cedro de altura assustadora. Tínhamos atingido o muro da cerca,
atrás do qual se escutava o marulho do lago e permanecemos ali, um longo momento. Daquele lugar se percebia a casa, que se erguia no meio do parque abandonado
e se ficava surpreso com sua presença, como se se acabasse de chegar àquela cidade antiga da América do Sul onde, parece, uma casa de ópera em estilo rococó,
uma catedral e hotéis particulares em mármore de Carrara estão hoje enterrados sob a floresta virgem.
Os convidados não se aventuraram a ir tão longe quanto nós, com exceção de dois ou três casais que discerníamos vagamente e que aproveitavam a mata luxuriante e
a noite. Os outros se mantinham diante da casa ou na varanda. Juntamo-nos de novo a eles. Onde estava Meinthe? Talvez lá dentro, no salão. Madeja se aproximou e
com seu sotaque meio britânico meio alemão nos explicava que de bom grado ficaria aqui mais 15 dias, mas tinha que ir a Roma. Alugaria de novo a vila em setembro
"quando a montagem do filme estivesse terminada". Ele pega Yvonne pela cintura e não sei se a bolina ou se seu gesto tem alguma coisa paternal:
- Ela é muito boa atriz. Ele me fixa e noto em seus olhos uma bruma cada vez mais compacta.
- O senhor se chama Chmara, não é? A bruma se dissipa de repente, seus olhos brilham com um fulgor azul mineral.
30
- Chmara... é mesmo Chmara, hein? Eu respondo: sim, na ponta dos lábios. E seus olhos, de novo, perdem sua dureza, borram-se, até se liquefazerem completamente.
Sem dúvida ele tem o poder de governar seu brilho à vontade como se ajusta um par de binóculos. Quando quer se voltar para si mesmo, então os olhos se embaçam
e o mundo exterior não é mais que uma massa fluida. Conheço bem esse procedimento porque o emprego com freqüência.
- Havia um Chmara, em Berlim, no tempo... - me dizia ele. - Não é, Ilse?
Sua mulher, esticada numa espreguiçadeira na outra extremidade da varanda, tagarelava com dois jovens e se voltou com um sorriso nos lábios.
- Não é, Ilse? Havia um Chmara no tempo, em Berlim. Ela o olhava e continuava sorrindo. Depois, virou de novo a cabeça e retomou sua conversa. Madeja sacudiu os
ombros e apertou a bengala com as duas mãos.
- Sim... Sim... Esse Chmara morava na aléia Kaiser... O senhor não está acreditando em mim, hein?
Ele se levantou, acariciou o rosto de Yvonne e andou na direção da balaustrada de madeira verde. Ficou lá, de pé, compacto, a contemplar o jardim sob a lua.
Nós estávamos sentados um ao lado do outro, sobre dois pufes, e ela apoiava a cabeça contra meu ombro. Uma moça morena cuja blusa cavada deixava ver os seios (a
cada gesto um pouco mais brusco, pulavam para fora do decote) nos estendia dois copos cheios de um líquido cor-de-rosa. Ela ria às gargalhadas, beijava Yvonne,
suplicava em italiano que bebêssemos aquele coquetel que ela tinha preparado "especialmente para nós". Chamava-se, se me lembro bem, Daisy Marchi e Yvonne me
explicou que fazia o papel principal no "filme". Também ia fazer uma grande carreira. Era conhecida em Roma. E já ela nos abandonava, rindo cada vez mais e sacudindo
os longos cabelos, para juntar-se a um homem de cerca de cinqüenta anos, porte esbelto e rosto grisalho que estava à porta da sacada, com um copo na mão. Este
era Harry Dressel, um holandês, um dos
atores do "filme". Outras pessoas ocupavam as poltronas de vime ou se apoiavam na balaustrada. Algumas cercavam a mulher de Madeja, que sorria sempre, com os olhos
ausentes. Pela porta da sacada, escapavam um murmúrio de conversas e uma música lenta e melosa mas, desta vez, o cantor de voz grave repetia:
Abat-jour Che sofonde la luce blu...
Madeja passeava no gramado na companhia de um homenzinho careca que lhe batia na cintura, de modo que era obrigado a se abaixar para falar. Passavam e voltavam a
passar na frente da varanda. Madeja cada vez mais pesado e curvo, seu interlocutor cada vez mais empinado na ponta dos pés. Ele emitia um zumbido de zangão e
a única frase que pronunciava utilizando a linguagem dos homens era: "va bene Rolf...va bene Rolf... va bene Rolf...vabenerolf..." O cachorro de Yvonne, sentado
à borda da varanda numa posição de esfinge, acompanhava o vaivém virando a cabeça da direita para a esquerda, da esquerda para a direita.
Onde estávamos? No coração da Haute-Savoie. É inútil me repetir esta frase reconfortante: "no coração da
Haute-Savoie". Penso, antes, num país colonial ou nas ilhas
Caraíbas. Senão, como explicar aquela luz suave e corrosiva, aquele azul noite que deixava os olhos, as peles, os vestidos e os ternos de alpaca fosforescentes?
Aquelas pessoas todas estavam cercadas de uma eletricidade misteriosa e se esperava, a cada gesto delas, que se produzisse um curto-circuito. Seus nomes - alguns
me ficaram na memória e lamento não tê-los anotado todos na hora: eu os teria recitado à noite, antes de dormir, ignorando a quem pertenciam, sua consonância me
teria bastado - seus nomes evocavam aquelas pequenas sociedades cosmopolitas dos portos livres e balcões ultramarinos: Gay Orloff, Percy Lippitt, Osvaldo Valenti,
IIse Korber, Roland Witt von Nidda, Geneviève Bouchet, Geza Pellemont, François Brunhardt...Que
32
vieram a ser? O que dizer-lhes nesse encontro em que os ressuscito? Já nessa época vai fazer 13 anos em breve - me davam a sensação de ter, há muito, queimado suas
vidas. Eu os observava, escutava-os falar debaixo da lanterna chinesa que salpicava os rostos e os ombros das mulheres. A cada um eu emprestava um passado que
recortava o dos outros, e eu gostaria que me revelassem tudo: quando Percy Lippitt e Gay Orloff se encontraram pela primeira vez? Um dos dois conhecia Osvaldo Valenti?
Por intermédio de quem Madeja passou a se relacionar com Geneviève Bouchet e François Brunhardt? Quem, dessas seis pessoas, tinha introduzido no seu círculo Roland
Witt von Nidda? (E cito apenas aqueles cujos nomes guardei.) Uma quantidade de enigmas que supunha uma infinidade de combinações, uma teia de aranha que passaram
dez ou vinte anos a tecer.
Era tarde e procurávamos Meinthe. Ele não se encontrava nem no jardim, nem na varanda, nem no salão. O Dodge tinha desaparecido. Madeja, com quem cruzamos na escadaria
exterior, em companhia de uma menina de cabelo louro muito curto, nos declarou que "Menthe" acabava de sair com "Fritzi Trenker" e com certeza não iria voltar.
Deu uma gargalhada que me surpreendeu e apoiou a mão no ombro da menina.
- Minha bengala de velho - declarou ele. O senhor entende, Chmara? Depois nos deu as costas, bruscamente. Atravessava o corredor apoiando-se com mais força no ombro
da jovem. Tinha o aspecto de um velho lutador de boxe cego.
Foi a partir desse momento que as coisas tomaram outro rumo. Apagaram as lâmpadas do salão. Restava apenas uma vigia na chaminé cuja luz rosa era apagada por grandes
zonas de sombra. À voz do cantor italiano sucedeu-se uma voz feminina, que se interrompia, enrouquecia a ponto de não se compreender mais as palavras da canção
e de se imaginar se era o lamento de uma moribunda ou um grunhido de prazer. Mas a voz de repente se purificava e as mesmas palavras voltavam, repetidas em doces
inflexões.
33
A mulher de Madeja estava deitada atravessada no sofá e um dos jovens que a cercavam na varanda inclinava-se sobre ela, começava a desabotoar lentamente seu vestido.
Ela fixa o teto, os lábios entreabertos. Alguns casais dançam, um pouco colados demais, fazendo gestos um tanto preciosos demais. Na passagem vejo o estranho
Harry Dressel acariciar com a mão pesada as coxas de Daisy Marchi. Perto da porta da sacada, um espetáculo prende a atenção de um pequeno grupo: uma mulher dança
sozinha. Ela tira o vestido, a combinação, o sutiã. Nós nos juntamos ao grupo, Yvonne e eu, por ociosidade. Roland Witt von Nidda, o rosto alterado, a devora com
os olhos: ela está só de meias e ligas e continua a dançar. De joelhos, ele tenta arrancar as ligas da mulher com os dentes, mas ela sempre se esquiva. Afinal,
decide-se por tirar esses acessórios ela própria e continua a dançar completamente nua, girando em torno de Witt von Nidda, roçando-o, e este se mantém imóvel,
impassível, com o queixo estendido, o busto encurvado, toureiro grotesco. Sua sombra contorcida aparece na parede e a da mulher - desmesuradamente aumentada - varre
o teto. Logo não há mais, por aquela casa toda, senão um balé de sombras que se perseguem umas às outras, sobem e descem as escadas, soltam gargalhadas e gritos
furtivos.
Contíguo ao salão, um cômodo de canto. Estava mobiliado com uma escrivaninha maciça com inúmeras gavetas, como eram, suponho, no ministério das Colônias, e uma
grande poltrona de couro verde escuro. Refugiamo-nos ali. Lancei um último olhar ao salão e ainda vi a cabeça da senhora Madeja lançada para trás (estava apoiando
a nuca no braço do sofá). Sua cabeleira loura caía até o chão, e aquela cabeça dir-se-ia que acabava de ser cortada. Ela pôs-se a gemer. Eu mal distinguia o outro
rosto, próximo ao dela. Ela soltava gemidos cada vez mais fortes e pronunciava frases desordenadas: "me mata... me mata... me mata... me mata". Sim, lembro-me
de tudo isso.
O chão do escritório estava coberto por um tapete de lã muito grosso e nós nos deitamos ali. Um raio, ao nosso lado,
34
desenhava uma barra cinza-azulada que ia de um canto do cômodo ao outro. Uma das janelas estava entreaberta e eu ouvia farfalhar uma árvore cuja folhagem acariciava
o vidro. E a sombra dessa folhagem cobria a biblioteca com uma rede de noite e de lua. Estavam ali todos os livros da coleção do "Máscara".
O cão adormeceu diante da porta. Nenhum ruído mais, nenhuma voz nos vinha do salão. Quem sabe todos tinham deixado a vila e só nós permanecíamos? Flutuava no escritório
um perfume de couro velho e me perguntei quem teria arrumado os livros nas prateleiras. A quem pertenciam? Quem vinha à noite fumar um cachimbo aqui, trabalhar
ou ler um dos romances ou escutar o sussurro das folhas?
Sua pele tinha tomado um matiz opalino. A sombra de uma folha vinha tatuar sua espádua. Às vezes, ela se abatia sobre seu rosto e dir-se-ia que estava de máscara.
A sombra descia e lhe amordaçava a boca. Eu gostaria que o dia jamais se levantasse, para ficar com ela encoscorado no fundo daquele silêncio e daquela luz de
aquário. Um pouco antes da aurora" ouvi uma porta bater, passos precipitados acima de nós e o barulho de um móvel virado. E depois gargalhadas. Yvonne tinha adormecido.
O dogue sonhava soltando, a intervalos regulares, um gemido surdo. Entreabri a porta. Não havia ninguém no salão. A vigia continuava iluminada, mas sua claridade
parecia mais fraca, não mais cor-de-rosa, mas verde muito claro. Dirigi-me à varanda para tomar ar. Ninguém também sob a lanterna chinesa que continuava brilhando.
O vento a fazia oscilar e formas dolorosas, umas de aparência humana, corriam pelas paredes. Embaixo, o jardim. Eu tentava definir o perfume que se desprendia daquela
vegetação e invadia a varanda. Mas sim, hesito em dizê-lo pois isso se passava na Haute-Savoie: eu respirava um cheiro de jasmim.
Atravessei outra vez o salão. A vigia sempre difundindo sua luz verde pálida, em ondas lentas. Pensei no mar e naquele líquido gelado que se bebe nos dias de calor:
menta diabolo. Ouvi ainda explosões de riso e sua pureza me espantou.
35
Vinham de muito longe e se aproximavam de repente. Não conseguia localizá-las. Eram cada vez mais cristalinas, voláteis. Ela dormia, a maçã do rosto apoiada sobre
o braço direito, estendido para a frente. A barra azulada que a lua projetava através do cômodo iluminava a fenda dos lábios, o pescoço, a nádega esquerda e o calcanhar.
Sobre suas costas aquilo fazia como que um cachecol retilíneo. Eu prendia a respiração.
Revejo o balanço das folhas atrás do vidro e aquele corpo cortado em dois por um raio de lua. Por que, às paisagens da Haute-Savoie que nos cercam, superpõe-se
em minha memória uma cidade desaparecida, a Berlim de antes da guerra? Talvez porque ela "trabalhasse" num "filme" de "Rolf Madeja". Mais tarde me informei a
respeito dele e fiquei sabendo que tinha debutado muito novo nos estúdios da U.F.A. Em fevereiro de 45, tinha começado seu primeiro filme, Confettis für zwei,
uma opereta vienense muito frívola e muito alegre cujas cenas ele rodava entre dois bombardeios. O filme ficou inacabado. E eu, quando evoco essa noite, avanço
entre as casas pesadas da Berlim de outrora, bordejo cais e bulevares que não existem mais. Da Alexander-Platz, caminhei em linha reta, atravessei o Lust-Garten
e a Sprée. A noite cai sobre as quatro fileiras de tílias e castanheiros e sobre os bondes que passam. Estão vazios. As luzes tremem. E você, você me espera naquela
gaiola de verdura que brilha no final da avenida, o jardim de inverno do hotel Adlon.
36
IV
Meinthe olhou atentamente o homem de impermeável que arrumava os copos. Este acabou por baixar a cabeça e de novo absorveu-se no trabalho. Mas Meinthe permanecia
diante dele, congelado num irrisório alerta. Em seguida, voltou-se para os outros dois que o examinavam, com sorriso mau e o queixo apoiado na ponta do cabo da
vassoura. A semelhança física deles era marcante: os mesmos cabelos louros cortados à escova, o mesmo bigodinho, os mesmos olhos azuis salientes. Inclinavam o
corpo, um para a direita, o outro para a esquerda, de maneira simétrica, tanto se poderia imaginar que fosse a mesma pessoa refletida num espelho. Essa ilusão Meinthe
deve ter tido, porque se aproximou dos dois homens lentamente, com a sobrancelha franzida. Quando estava a alguns centímetros deles, deslocou-se para observá-los
de costas, a três quartos e de perfil. Os outros não se mexiam, mas se adivinhava que estavam prestes a se soltar e esborrachar Meinthe com uma saraivada de murros.
Meinthe desviou deles e recuou para a saída do restaurante, sem lhes tirar os olhos de cima. Eles permaneceram ali, petrificados, sob a claridade avara e amarelada
que destilava o aplique da parede.
Ele agora atravessa a praça da Estação, com a gola do
37
jaquetão levantada e a mão esquerda crispada sobre o lenço, como se estivesse ferido no pescoço. Neva um pouquinho. Os flocos são tão leves e finos que flutuam
no ar. Ele se embrenha pela rua Sommeiller e pára diante do Régent. Lá estão passando um filme muito antigo que se chama La dolce vita, Meinthe se abriga sob o
toldo do cinema e olha as fotografias do filme uma por uma, ao mesmo tempo em que tira do bolso do jaquetão uma piteira. Ele a aperta entre os dentes e apalpa
todos os outros bolsos à procura - sem dúvida - de um Carne!. Mas não encontra. Então seu rosto é tomado por tiques, sempre os mesmos: crispação da bochecha esquerda
e movimentos secos do queixo - mais lentos e mais dolorosos do que há 12 anos.
Ele parece hesitar quanto ao caminho a seguir: atravessar e pegar a rua Vaugelas que se junta à rua Royale ou continuar descendo a rua Sommeiller? Um pouco mais
em baixo, à direita, a placa verde e vermelha do Cintra. Meinthe a fixa, piscando os olhos. CINTRA. Os flocos voam em turbilhão em torno daquelas seis letras e
tomam também eles uma cor verde e vermelha. Verde cor de absinto. Vermelho campari...
Ele anda em direção àquele oásis, com as costas encurvadas, as pernas tesas e, se não fizesse esse esforço de tensão, certamente escorregaria na calçada, boneco
desarticulado.
O cliente de casaco xadrez continua lá, mas já não importuna a garçonete. Sentado diante de uma mesa, bem no fundo, bate com o indicador esticado repetindo numa
vozinha que podia ser a de uma senhora muito velha: "E zim... bum-bum... e zim... bum-bum..." A garçonete, por sua vez, lê uma revista. Meinthe sobe num dos tamboretes
e lhe pousa a mão sobre o braço.
- Um porto claro, minha pequena - cochicha ele.
38
V
Deixei os Tilleuls para morar com ela no Hermitage. Uma noite, vieram me buscar, Meinthe e ela. Eu acabava de jantar e esperava no salão, sentado bem perto do
homem com cara de cocker spaniel triste. Os outros atacavam sua canastra. As mulheres tagarelavam com a senhora Buffaz. Meinthe parou no vão da porta. Vestia um
terno cor-de-rosa muito claro e de seu bolso pendia um lenço verde escuro.
Eles se voltaram para ele. - Senhoras... Senhores murmurou Meinthe inclinando a cabeça. Depois caminhou em minha direção e se endireitou: Estamos esperando-o. Pode
mandar descer sua bagagem.
A senhora Buffaz me perguntou brutalmente: - O senhor está nos deixando? Eu estava de olhos baixos. - Isto ia acontecer mais dia menos dia, madame - respondeu
Meinthe, num tom sem réplica.
- Mas ele poderia ao menos nos avisar com antecedência.
Compreendi que aquela mulher sentia um ódio súbito em relação a mim e que não hesitaria em me entregar à polícia sob o menor pretexto. Fiquei entristecido.
39
- Senhora ouvi Meinthe responder -, esse moço não pode fazer nada, ele acaba de receber uma ordem de missão assinada pela rainha dos belgas.
Eles nos encaravam, petrificados, com as cartas na mão. Meus habituais vizinhos de mesa me inspecionavam com um ar ao mesmo tempo surpreso e enojado, como se acabassem
de perceber que eu não pertencia à espécie humana. A alusão à "rainha dos belgas" foi acolhida com um murmúrio geral e quando Meinthe, sem dúvida querendo enfrentar
a senhora Buffaz que estava a sua frente, de braços cruzados, repetiu, martelando as sílabas:
- Ouviu, madame? A RAINHA DOS BELGAS... - o murmúrio aumentou e me provocou uma fisgada no coração. Então, Meinthe bateu no chão com o salto, esticou o queixo e
gritou muito rapidamente, embaralhando as palavras:
-Não disse tudo à senhora, madame... A RAINHA DOS BELGAS sou eu...
Houve gritos e movimentos de indignação: a maior parte dos hóspedes tinha se levantado e formava um grupo hostil, diante de nós. A senhora Buffaz avançou um passo
e temi que ela desse uma bofetada em Meinthe ou em mim. Essa última possibilidade me parecia natural: eu me sentia o único responsável.
Eu gostaria de pedir perdão àquelas pessoas ou que um golpe de vara mágica apagasse da memória delas o que acabava de acontecer. Todos os meus esforços para passar
desapercebido e me dissimular num local seguro tinham sido reduzidos a nada, em alguns segundos. Eu sequer ousava lançar um último olhar em volta do salão onde
após os jantares um coração inquieto como o meu tinha se sentido tão em paz. E quis mal a Meinthe, por um breve instante. Por que lançar a consternação entre aqueles
pobres hóspedes que jogavam canastra? Eles me tranqüilizavam. Na companhia deles, eu não corria risco algum.
A senhora Buffaz de bom grado teria nos jogado veneno na cara. Seus lábios ficavam cada vez mais finos. Eu a perdôo.
40
Eu a havia traído, de certa forma. Eu tinha sacudido a preciosa relojoaria que eram os Tilleuls. Se ela estiver me lendo (o que duvido; e aliás, os Tilleuls já
não existem), gostaria que soubesse que eu não era um mau rapaz.
Foi preciso descer as "bagagens" que eu tinha arrumado à tarde. Compunham-se de um baú de três malas grandes. Continham escassas roupas, todos os meus livros, meus
velhos catálogos e os números de Match, Cinémonde, Music-hall, Détective e Noir et blanc dos últimos anos. Aquilo pesava muito. Meinthe, querendo deslocar o baú,
quase foi esmagado por ele. Conseguimos, à custa de esforços inauditos, deitá-lo transversalmente. Em seguida, levamos uns vinte minutos para arrastá-lo pelo corredor
até o patamar da escada. Escorávamos, Meinthe na frente, eu atrás, e nos faltava fôlego. Meinthe se deitou totalmente sobre o assoalho, com os braços em cruz e
os olhos fechados. Eu voltei a meu quarto e bem ou mal, vacilando, transportei as três malas até a beira da escada.
A luz se apagou. Fui tateando até o interruptor, mas era inútil acioná-lo, continuava escuro. Embaixo, a porta entreaberta do salão deixava filtrar uma vaga claridade.
Distingui uma cabeça que se inclinava na abertura: a da senhora Buffaz, eu tinha quase certeza. Logo compreendi que ela devia ter retirado um dos fusíveis para
que descêssemos a bagagem na escuridão. E isso me causou um riso nervoso louco.
Empurramos o baú até enfiá-lo na escada pela metade. Estava em equilíbrio precário sobre o primeiro degrau. Meinthe agarrou-se ao corrimão e deu um chute raivoso:
a mala deslizou, pulando a cada degrau e fazendo um barulho assustador. Poderse-ia pensar que a escada ia desmoronar. A cabeça da senhora Buffaz apareceu outra
vez de perfil na abertura da porta do salão, cercada de outras três ou quatro. Ouvi guinchar: "olhem só esses porcos..." Alguém repetia numa voz sibilante a palavra
"polícia". Peguei uma mala em cada mão e comecei a descer. Não via nada. Aliás, preferia fechar os olhos e contar baixo para ter coragem. Um-dois-três. Um-dois-três...
Se escorregasse,
41
seria arrastado pelas malas até o térreo e aniquilado pelo choque. Impossível fazer uma pausa. Minhas clavículas iam arrebentar. E aquele horrível riso louco
voltava a me tomar.
A luz voltou e me ofuscou. Eu me encontrava no térreo, entre as duas malas e o baú, embotado. Meinthe me seguia, a terceira mala na mão (ela pesava menos porque
continha apenas meus negócios de toalete) e bem que eu gostaria de saber quem foi que me deu força para chegar vivo até lá. A senhora Buffaz me estendeu a nota,
que acertei com o olhar fugidio. Depois ela entrou no salão e bateu a porta atrás de si. Meinthe se apoiava contra o baú e batia no rosto com o lenço enrolado
feito bola, com os pequenos gestos precisos de uma mulher que se empoa.
- É preciso continuar, meu velho - disse ele, apontando a bagagem -, continuar...
Arrastamos o baú até a escada exterior. O Dodge estava estacionado perto do portão dos Tilleuls e eu adivinhava a silhueta de Yvonne, sentada na frente. Ela fumava
um cigarro e nos fez sinal com a mão. Conseguimos apesar de tudo alçar a mala ao banco de trás. Meinthe se prostrou de encontro ao volante e eu fui buscar as três
malas, no vestíbulo do hotel.
Alguém estava imóvel na frente do balcão da recepção: o homem com cara de cocker spaniel. Ele andou em minha direção e parou. Eu sabia que ele queria me dizer
alguma coisa mas as palavras não saíam. Achei que ia soltar seu latido, aquele gemido doce e prolongado que eu era sem dúvida o único a escutar (os hóspedes dos
Tilleuls continuavam sua partida de canastra ou sua conversação). Ele permanecia ali, com as sobrancelhas franzidas, a boca entreaberta, fazendo esforços cada
vez mais violentos para falar. Ou estava sentindo náusea e não conseguia vomitar? Ao cabo de alguns minutos retomou a calma e me disse numa voz surda : "O senhor
está indo na hora. Até à vista, senhor."
Ele me estendia a mão. Vestia um casaco grosso de tweed e calça de tecido bege ao avesso. Eu admirava os sapatos dele;
42
de camurça cinzenta com solas de crepe muito, muito grossas. Estava certo de ter encontrado esse homem antes de minha estada nos Tilleuls, e isso devia remontar
a uns dez anos. E de repente... Mas sim, eram os mesmos sapatos, e o homem que me estendia a mão aquele que tanto tinha me intrigado no tempo de minha infância.
Ele ia às Tulherias toda quinta-feira e todo domingo com um barco miniatura (uma reprodução fiel do Kon Tiki) e o via evoluir pelo lago, mudando de posto de observação,
empurrando-o com a ajuda de uma vara quando encalhava contra a margem de pedra, verificando a solidez de um mastro ou de uma vela. Às vezes, um grupo de crianças
até mesmo de gente grande acompanhava aquela manobra e ele lhes lançava um olhar furtivo como se receasse sua reação. Quando lhe perguntavam sobre o barco, respondia,
gaguejando: sim, era um trabalho muito demorado, muito complicado, construir um Kon Tiki. E, enquanto falava, acariciava o brinquedo. Por volta das sete horas da
noite, levava o barco e se sentava num banco para enxugá-lo, com a ajuda de uma toalhaesponja. Eu o via em seguida dirigir-se à rua Rivoli, com o Kon Tiki debaixo
do braço. Mais tarde, devo ter pensado freqüentemente naquela silhueta que se afastava no crepúsculo.
Ia lembrá-lo de nossos encontros? Mas sem dúvida ele tinha perdido o barco dele. Eu disse por minha vez: "Adeus, senhor". Empunhei as duas primeiras malas e atravessei
lentamente o jardim. Ele andava a meu lado, silencioso. Yvonne estava sentada no pára-lama do Dodge. Meinthe, ao volante, tinha a cabeça deitada no banco e os olhos
fechados. Arrumei as duas valises na mala do carro, atrás. O outro espiava todos os meus gestos com interesse ávido. Quando atravessei de novo o jardim, me precedia,
e se voltava de vez em quando para ver se eu continuava lá. Ele levantou a última mala com um gesto seco e me disse: " o senhor permite..."
Era a mais pesada. Eu tinha arrumado nela os catálogos. Ele a pousava a cada cinco metros e tomava ar. Cada vez que eu fazia menção de pegá-la, me dizia:
43
- Por favor, senhor... Quis ele próprio erguê-la ao banco de trás. Conseguiu com muito esforço, depois ficou lá. Os braços balançando, o rosto um pouco congestionado.
Não prestava atenção alguma em Yvonne e Meinthe. Cada vez mais parecia um cocker spaniel.
- Veja, senhor murmurou ele - ... eu lhe desejo boa sorte.
Meinthe deu a partida suavemente. Antes de o automóvel entrar na primeira curva, virei-me. Ele estava de pé no meio da estrada, bem perto de um poste que iluminava
seu casaco grosso de tweed e suas calças bege ao avesso. Só lhe faltava, em suma, o Kon Tiki debaixo do braço. Há seres misteriosos - sempre os mesmos - que se
põem de sentinela a cada encruzilhada de sua vida.
44
VI
No Hermitage, ela não só dispunha de um quarto mas também de um salão mobiliado com três poltronas estofadas de estampado, uma mesa redonda de acaju e um divã.
As paredes do salão e as do quarto estavam cobertas por um papel que reproduzia as telas de Jouy. Mandei pôr o baú num canto do cômodo, de pé, para ter a meu alcance
tudo que suas gavetas continham. Pulôveres ou velhos jornais. As malas, eu mesmo as empurrei para o fundo do banheiro, sem abri-las, pois é preciso estar pronto
de um instante a outro e considerar um refúgio provisório cada quarto onde se dá com os costados.
Além disso, onde poderia eu arrumar minhas roupas, meus livros e catálogos? Os vestidos e sapatos dela enchiam todos os armários e alguns ficavam em desordem sobre
as poltronas e o divã do salão. A mesa de acaju estava coberta de produtos de beleza. O quarto de hotel de uma atriz de cinema, pensava eu. A desordem que os
jornalistas descrevem, na Ciné-Mondial ou na Vedettes. A leitura de todas essas revistas muito me tinha impressionado. E eu sonhava. Então evitava os gestos muito
bruscos e as questões por demais precisas, para não despertar.
Já na primeira noite, acho, ela me pediu para ler o roteiro do filme que acabava de rodar sob a direção de Rolf Madeja.
45
Fiquei muito emocionado. Chamava-se: Liebesbriefe aufdem Berg (Carta de amor da montanha). A história de um instrutor
de esqui chamado Kurt Weiss. No inverno, ele dá cursos às ricas estrangeiras de férias naquela estação elegante de Vorarlberg. Seduz todas, graças à pele queimada
e à grande beleza física. Mas acaba se apaixonando loucamente por uma delas, mulher de um industrial húngaro, e esta retribui seus sentimentos. Eles vão dançar
no bar muito "chique" da estação debaixo dos olhares enciumados das outras mulheres. Em seguida, Kurtie e Lena terminam a noite no hotel Bauhaus. Juram-se amor
eterno e falam da vida futura num chalé isolado. Ela tem de partir para Budapeste, mas promete voltar o mais rapidamente possível. Agora, na tela, a neve cai;
depois cascatas cantam e as árvores se cobrem de folhas novas. É a primavera e, daqui a pouco, eis o verão. Kurt Weiss exerce seu verdadeiro oficio, de pedreiro,
e é com dificuldade que se reconhece nele o belo instrutor bronzeado do inverno. Toda tarde, escreve uma carta a Lena e espera a resposta. Uma moça da região o
visita de vez em quando, Eles vão fazer longas caminhadas juntos.
Ela o ama, mas ele pensa sem cessar em Lena. Ao final de peripécias que me esqueci, a lembrança de Lena pouco a pouco se esvai, em favor da moça (Yvonne fazia
esse personagem) e Kurtie compreende que não se tem o direito de desprezar uma solicitude tão terna. Na cena final, eles se beijam sobre um fundo de montanhas e
pôr-do-sol.
O quadro de uma estação de esportes de inverno, de seus costumes e freqüentadores me parecia muito "batido". Quanto à jovem
que Yvonne encarnava, era "um ótimo papel para uma iniciante".
Comuniquei a ela minha opinião. Ela me escutou com muita atenção. Fiquei orgulhoso dela. Perguntei-lhe em que data poderíamos ver o filme. Não antes do mês de
setembro, mas Madeja vai fazer, sem dúvida, uma projeção em Roma daqui a 15 dias "das tomadas de ponta a ponta". Nesse caso, ela me
levaria lá pois "queria tanto saber o que eu achava de sua interpretação"...
46
Sim, quando tento rememorar os primeiros instantes de nossa "vida em comum", escuto como numa fita magnética usada nossas conversas relativas a sua "carreira".
Quero me tornar interessante. Adulo-a... "Esse filme de Madeja é muito importante para a senhora, mas agora será necessário encontrar alguém que a valorize de verdade...
Um rapaz de gênio... Um judeu, por exemplo..." Ela, cada vez mais atenta. "O senhor acha?" "Sim, sim, tenho certeza".
A candura de seu rosto me espanta, a mim, que só tenho 18 anos. "Você acha mesmo?", diz ela. E à nossa volta a desordem do quarto é cada vez maior. Acho que não
saímos durante dois dias.
De onde vinha ela? Muito depressa compreendi que não morava em Paris. Falava de lá como uma cidade que mal conhecia. Tinha estado brevemente duas ou três vezes
no WindsorReynolds, um hotel da rua Beaujon de que me lembrava bem: meu pai, antes de seu estranho desaparecimento, ali marcava encontros comigo (a memória me
falha: foi no saguão do Windsor-Reynolds, ou no do Lutetia que o vi pela última vez?). Fora o Windsor-Reynolds só guardava de Paris a rua ColonelMoll e o bulevar
Beauséjour, onde tinha "amigos" (eu não ousava perguntar que amigos). Ao contrário, Genebra e Milão recorriam sempre em sua conversa. Tinha trabalhado em Milão e
em Genebra também. Mas que tipo de trabalho?
Olhei seu passaporte, às escondidas. Nacionalidade francesa. Domiciliada em Genebra, praça Dorcière, 6B. Por quê? Para minha grande surpresa, tinha nascido na cidade
de Haute-Savoie onde nos encontrávamos. Coincidência? Ou era originária da região? Ainda tinha família aqui? Arrisquei uma pergunta indireta sobre o assunto, mas
ela queria me esconder alguma coisa. Respondeu-me de modo muito vago, dizendo que tinha sido educada no estrangeiro. Não insisti. Com o tempo, pensava, terminarei
sabendo de tudo.
47
Ela também me fazia perguntas. Eu estava de férias aqui? Por quanto tempo? Tinha logo adivinhado, disse-me, que eu vinha de Paris. Declarei que "minha família"
(e senti grande volúpia ao dizer "minha família") queria que eu fizesse um repouso de vários meses, em função de minha saúde "precária". A medida que lhe fornecia
essas explicações, via uma dúzia de pessoas muito circunspectas, sentadas em volta de uma mesa, num cômodo com lambris: o "conselho de família", que ia tomar decisões
a meu respeito. As janelas do cômodo davam para a praça Malesherbes e eu pertencia àquela antiga burguesia judia que se fixou por volta de 1890 na planície Monceau.
Ela me perguntou à queima-roupa: "Chmara é um nome russo. O senhor é russo?" Então pensei em outra coisa: morávamos, minha avó e eu, num térreo próximo da Étoile,
mais exatamente na rua Lord-Byron, ou na rua de Bassano (necessito de detalhes precisos). Vivíamos da venda de nossas "jóias de família" ou penhorando-as no crédito
municipal da rua Pierre-Charron. Sim, eu era russo, e me chamava conde Chmara. Ela pareceu impressionada.
Durante alguns dias não tive mais medo de nada nem de ninguém. E, em seguida, aquilo voltou. Velha dor alucinante.
Na primeira tarde que saímos do hotel, tomamos o barco Amiral-Guisand, que fazia a volta do lago. Ela exibia óculos escuros de armação grossa e lentes opacas e
prateadas. A gente se refletia neles como num espelho.
O barco avançava preguiçosamente e levou pelo menos vinte minutos para atravessar o lago até Saint-Jorioz. Eu franzia os olhos por causa do sol. Ouvia os murmúrios
distantes de lanchas a motor, os gritos e as gargalhadas das pessoas que se banhavam. Um avião de turismo passou, bem alto no céu, arrastando uma bandeirola onde
li estas palavras misteriosas: TAÇA HOULIGANT... A manobra foi muito demorada, antes de
48
aportarmos - ou melhor, do Amiral-Guisand ir de encontro ao cais. Três ou quatro pessoas subiram, entre elas um padre vestindo batina de um vermelho berrante, e
o barco retomou seu cruzeiro resfolegante. Depois de Saint-Jorioz, dirigiu-se a uma localidade chamada Voirens. Depois, seria Port-Lusatz e, um pouco mais longe,
a Suíça. Mas daria meia-volta a tempo e ganharia o outro lado do lago.
O vento lhe jogava na testa uma mecha de cabelo. Ela me perguntou se seria condessa caso nos casássemos. Disse isso num tom de brincadeira por trás do qual adivinhei
uma grande curiosidade. Respondi que se chamaria "condessa Yvonne Chmara".
- Mas é mesmo russo, Chmara? - Georgiano - disse eu. - Georgiano... Quando o barco parou em Veyrier-du-Lac, reconheci de longe a vila branca e rosa de Madeja.
Yvonne olhava na mesma direção. Uma dezena de jovens se instalou na ponte, a nosso lado. A maioria usava roupa de tênis e sob as saias brancas pregueadas as meninas
deixavam ver coxas grossas. Todos falavam com o sotaque dental que se cultiva para os lados do Ranelagh e da avenida Bugeaud. E me perguntei por que aqueles rapazes
e moças da boa sociedade francesa tinham, uns, ligeira acne, e outros, alguns quilos a mais. Sem dúvida aquilo tinha a ver com sua alimentação.
Dois membros do bando discutiam os méritos respectivos das raquetes Pancho Gonzalès e Spalding. O mais volúvel usava uma barba em toda a volta do rosto e uma camisa
enfeitada com um pequeno crocodilo verde. Conversa técnica. Palavras incompreensíveis. Burburinho doce e embalador, sob o sol. Uma das meninas louras não parecia
insensível ao charme de um moreno de mocassins e blazer com escudo, que se esforçava para brilhar diante dela. A outra loura declarava que "a festa era para depois
de amanhã à noite" e que os "pais lhes deixariam a vila". Barulho da água contra o casco. O avião voltava sobre nós e reli a estranha bandeirola: TAÇA HOULIGANT.
49
Iam todos (pelo que entendi) ao tênis clube de MenthonSaint-Bernard. Seus pais deviam ter vilas à beira do lago. E nós? Aonde íamos? E nossos pais, quem eram? Yvonne
pertencia a uma "boa família" como nossos vizinhos? E eu? Meu título de conde era, na verdade, algo diferente de um pequeno crocodilo verde perdido numa camisa branca...
"Estão chamando o senhor conde Victor Chmara ao telefone." Era como fragor de címbalos.
Nós descemos do barco em Menthon, com eles. Andavam a nossa frente, com as raquetes na mão. Seguíamos uma estrada ladeada de vilas cujo exterior lembrava chalés
de montanha e onde, já há muitas gerações, uma burguesia sonhadora passava as férias. Às vezes, essas casas eram escondidas por massas de abetos ou pinheiros.
Vila Primevère, Vila Edelweiss, Les Chamois, Chalé Marie-Rose... Eles tomaram um caminho, para a esquerda, que levava até as redes de uma quadra de tênis. Seu
zumbido e seus risos diminuíram.
Nós viramos para a direita. Um painel indicava: Grande Hotel de Menthon. Uma via particular subia uma encosta muito áspera até uma esplanada semeada de cascalho.
De lá, tinha-se uma vista tão vasta, mas mais triste, quanto a que se oferecia dos terraços do Hermitage. As margens do lago, desse lado, pareciam abandonadas.
O hotel era muito antigo. No saguão, plantas verdes, poltronas de rotim e grandes sofás forrados com tecido xadrez. Vinha-se para cá nos meses de julho e agosto
em família. Os mesmos nomes alinhavam-se no registro, nomes compostos franceses: Sergent-Delval, Hattier-Morel, PaquierPanhard... E quando pedimos um quarto, achei
que "conde Victor Chmara" ali ia cair como uma mancha de gordura.
À nossa volta, crianças, suas mães e seus avós, todos de uma grande dignidade, preparavam-se para ir à praia, levando bolsas cheias de almofadas e toalhas. Alguns
jovens cercavam um moreno alto, de camisa cáqui de exército aberta no peito e cabelo muito curto. Ele se apoiava em muletas. Os outros lhe faziam perguntas.
50
Um quarto de canto. Uma das janelas se abria sobre a esplanada e o lago, a outra tinha sido fechada. Um espelho grande e uma mesa pequena coberta com uma toalhinha
de renda. Uma cama com barras de cobre. Ficamos lá, até o cair da noite.
Enquanto atravessávamos o saguão, percebi-os fazendo a refeição da noite na sala de jantar. Estavam todos com roupas de cidade. As próprias crianças usavam gravatas
ou vestidinhos. E nós éramos os únicos passageiros no passadiço do AmiralGuisand. Ele atravessava o lago ainda mais lentamente do que na ida. Parava diante dos
embarcadouros vazios e retomava seu cruzeiro de velho bote cansado. As luzes das vilas cintilavam sob o verde. Ao longe, o Casino, iluminado por projetores. Naquela
noite certamente havia festa. Eu gostaria que o barco tivesse parado no meio do lago ou atracasse num dos pontões meio desmoronados. Yvonne tinha adormecido.
Jantávamos freqüentemente com Meinthe, no Sporting. As mesas ao ar livre, cobertas de toalhas brancas. Sobre cada uma delas, lâmpadas com dois abajures. Vocês
conhecem a fotografia do jantar do baile dos Pequenos Leitos Brancos, em Cannes, em 22 de agosto de 1939, e a que eu guardo comigo (meu pai aparece nela no meio
de um pessoal que sumiu), tirada no dia 11 de julho de 1948 no Casino do Cairo, na noite de eleição da miss Beleza do Banho, a jovem inglesa Kay Owen? Pois bem,
as duas fotos poderiam ter sido tiradas no Sporting, naquele ano, enquanto estávamos jantando. Mesma decoração. Mesma noite "azul". Mesma gente. Sim, eu reconhecia
certas caras.
Meinthe usava cada vez um smoking de cor diferente e Yvonne vestidos de musselina ou de crepe. Ela adorava coletes e lenços. Eu estava condenado a meu único terno
de flanela e a minha gravata do International Bar Fly. Nos primeiros tempos, Meinthe nos levava à Sainte-Rose, uma boate à beira do lago, depois de Menthon-Saint-Bernard,
em Voirens, exatamente.
51
Conhecia o gerente, chamado Pulli, que, me disse ele, estava com a permanência proibida. Mas aquele homem com início de barriga e olhos de veludo parecia ser a
doçura em pessoa. Ele ciciava. A Sainte-Rose era um lugar muito "chique". Ali se encontravam os mesmos veranistas ricos do Sporting. Ali se dançava num terraço
com pérgula. Lembro-me de ter apertado Yvonne contra mim pensando que jamais poderia viver sem o cheiro da pele e dos cabelos dela, e os músicos tocavam Tuxedo
Junction.
Em suma, tínhamos sido feitos para nos conhecermos e nos entendermos.
Voltávamos para casa muito tarde e o cão dormia no salão. Desde que me instalei com Yvonne no Hermitage, sua melancolia se agravava. A cada duas ou três horas -
regularidade de metrônomo - ele dava a volta no quarto, depois ia se deitar outra vez. Antes de passar para o salão, parava alguns minutos na frente da janela
de nosso quarto, sentava-se, com as orelhas em pé, talvez acompanhando com os olhos a evolução do AmiralGuisand pelo lago ou contemplando a paisagem. Eu ficava
espantado com a discrição triste daquele animal e emocionado ao surpreendê-lo em sua função de vigilante.
Ela vestia uma saída de praia com largas listas laranja e verde e se deitava na cama, atravessada, para fumar um cigarro. Na mesa de cabeceira, ao lado de um batom
ou vaporizador, estavam sempre jogadas cédulas. De onde vinha aquele dinheiro? Há quanto tempo ela morava no Hermitage? Tinham-na instalado lá enquanto durasse
o filme. Mas agora que havia terminado? Ela queria muito - explicou - passar a "temporada" naquele local de férias. A "temporada" ia ser muito "brilhante". "Férias",
"temporada", "muito brilhante", "conde Chmara"... quem mentia a quem naquela língua estrangeira?
Mas talvez ela precisasse de uma companhia? Eu me mostrava atento, solícito, delicado, apaixonado, como se é aos 18 anos. Nas primeiras noites, quando não se discutia
sua "carreira",
52
pedia-me que lesse para ela uma ou duas páginas da História da Inglaterra de André Maurois. Toda vez que eu começava, o dogue alemão logo vinha sentar-se à
porta que conduzia ao salão e me examinava com o olho severo. Yvonne, deitada, em sua saída de praia, escutava, as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Nunca
entendi por que ela, que jamais tinha lido nada na vida, gostava daquele tratado de história. Dava-me respostas vagas: "É muito bonito, sabe", "André Maurois é
um grande escritor". Acho que encontrou a História da Inglaterra no saguão do Hermitage e que, para ela, aquele volume tinha se transformado numa espécie de talismã
ou porta-felicidade. De vez em quando, repetia "lê mais devagar"ou perguntava o significado de uma frase. Queria decorar a História da Inglaterra. Eu disse que
André Maurois ficaria contente se soubesse disso. Então ela começou a me fazer perguntas sobre esse autor. Expliquei que era um romancista judeu muito terno que
se interessava pela psicologia feminina. Uma noite, quis que eu ditasse uma mensagem: " Senhor André Maurois, eu o admiro. Estou lendo sua História da Inglaterra
e gostaria de ter um autógrafo seu. Respeitosamente. Yvonne X".
Ele nunca respondeu. Por quê?
Desde quando ela conhecia Meinthe? Desde sempre. Ele também tinha - ao que parece um apartamento em Genebra e eles quase nunca se separavam. Meinthe exercia "mais
ou menos" a medicina. Eu tinha descoberto, entre as páginas do livro de Maurois, um cartão de visita com estas três palavras gravadas: "Doutor René Meinthe" e,
na prateleira de um dos lavabos, entre os produtos de beleza, uma receita encabeçada por "Doutor R.C. Meinthe", prescrevendo um sonífero.
Aliás, toda manhã, quando acordávamos, encontrávamos uma carta de Meinthe debaixo da porta. Guardei algumas e o tempo não apagou seu perfume de vetiver. Esse perfume,
eu me perguntava se vinha do envelope, do papel ou, quem sabe, da tinta que Meinthe utilizava. Reli uma delas ao acaso: "Terei
53
acaso o prazer de vê-los esta noite? Preciso passar a tarde em Genebra. Vou lhes telefonar por volta das nove horas para o hotel. Um abraço. Seu Renê M." E esta:
"Desculpem não lhes ter dado sinal de vida. Mas não saio do quarto há 48 horas. Penso que daqui a três semanas terei 27 anos. E serei uma pessoa muito velha, muito
velha. Até muito em breve. Um abraço. Sua madrinha de guerra. René". E esta, endereçada a Yvonne e com uma caligrafia mais nervosa: "Sabe quem acabo de ver no
saguão? Aquele porco do François Maulaz. E ele quis me apertar a mão. Ah não, jamais. Jamais. Que morra!" (essa última palavra sublinhada quatro vezes). E outras
cartas ainda.
Eles muitas vezes falavam entre si de pessoas que eu não conhecia. Guardei alguns nomes: Claude Brun, Paulo Hervieu, uma certa "Rosy", Jean-Pierre Pessoz, Pierre
Fournier, François Maulaz, a "Carlton", um tal de Dudu Hendrickx que Meinthe qualificava de "porco"... Muito rapidamente compreendi que essas pessoas eram originárias
do lugar onde nos encontrávamos, lugar de férias no verão, mas que voltava a ser uma cidadezinha sem história no fim de outubro. Meinthe dizia de Brun e de Hervieu
que tinham "subido" para Paris, que "Rosy" tinha retomado o hotel do pai em La Clusaz e que aquele "sujo" do Maulaz, o filho do livreiro, chamava a atenção todo
verão no Sporting, com um associado da Comédie-Française. Toda aquela gente tinha sido, sem dúvida, amiga de infância ou de adolescência deles. Quando eu fazia
uma pergunta, Meinthe e Yvonne mostravam-se evasivos e interrompiam sua conversa à parte. Eu então me lembrava do que tinha descoberto no passaporte de Yvonne
e os imaginava os dois aos 15 ou 16 anos, no inverno, à saída do cinema Régent.
54
VII
Bastaria eu voltar a encontrar um dos programas publicados pelo departamento de turismo - capa branca sobre a qual se destacam, em verde, o Casino e a silhueta
de uma mulher sentada ao estilo de Jean-Gabriel Domergue. Lendo a lista de féstividades e suas datas exatas, eu poderia constituir pontos de referência.
Uma noite fomos aplaudir Georges Ulmer, que cantava no Sporting. Isso acontecia, acho, no início de julho, e eu devia estar morando com Yvonne há cinco ou seis
dias. Meinthe nos acompanhava. Ulmer vestia um terno azul claro e muito cremoso, em que meu olhar se enviscava. Aquele aveludado azul tinha um poder hipnótico
porque quase adormeci, fixando-o.
Meinthe nos propôs beber alguma coisa. Na semipenumbra, no meio das pessoas que dançavam, ouvi-os falar da Taça Houligant pela primeira vez. Lembrei-me do avião
com a bandeirola enigmática. A Taça Houligant preocupava Yvonne. Tratava-se de uma espécie de concurso de elegância. Segundo o que dizia Meinthe, era necessário,
para participar da Taça, ter um automóvel de luxo. Usariam o Dodge ou alugariam um carro em Genebra? (Meinthe tinha levantado a questão.) Yvonne queria tentar
a sorte. O júri se compunha de diversas personalidades:
55
o presidente do clube de golfe de Chavoire e sua mulher; o presidente do departamento de turismo; o subprefeito de Haute-Savoie; André de Fouquières (esse
nome me sobressaltou e Pedi a Meinthe que repetisse: sim, era mesmo André de Fouquières, por muito tempo conhecido como "árbitro das elegâncias"e de quem eu tinha
lido as interessantes "Memórias"); senhor e senhora Sandoz, diretores do hotel Windsor; o ex-campeão de esqui Daniel Hendrickx, proprietário de lojas de esporte
muito chiques em Megève e Alpe d'Huez (aquele que Meinthe classificava como "porco"); um cineasta cujo nome hoje me escapa (algo como Gamonge ou Gamace) e, por
fim, o dançarino José Torres.
Meinthe também estava muito excitado com a perspectiva de concorrer por essa Taça na qualidade de cavaleiro servil de Yvonne. Seu papel se limitaria a dirigir o
automóvel ao longo da grande aléia de cascalho do Sporting e estacioná-lo diante do júri. Em seguida, desceria e abriria a porta para Yvonne. Evidentemente, o dogue
alemão participaria.
Meinthe assumiu um ar misterioso e me estendeu um envelope, piscando o olho: a lista dos participantes da Taça. Eles eram os últimos na liça, o número 32. "Doutor
R.C. Meinthe e senhorita Yvonne Jacquet" (acabo de encontrar seu sobrenome). A Taça Houligant era entregue todo ano na mesma data e recompensava "a beleza e a
elegância". Os organizadores souberam criar uma badalação publicitária bastante grande em torno dela posto que - me explicou Meinthe - às vezes saía nos jornais
de Paris. Para Yvonne, segundo ele, era muito interessante Participar.
E quando deixamos a mesa para dançar, ela não pôde evitar perguntar o que eu achava: devia ou não participar daquela Taça? Grave problema. Tinha o olhar perdido.
Eu distinguia Meinthe, que tinha ficado sozinho diante de seu porto "claro". Ele tinha posto a mão esquerda diante dos olhos feito viseira. Estaria chorando?
Por instantes, Yvonne e ele pareciam vulneráveis e desorientados (desorientados é o termo exato).
56
Mas é claro que ela devia participar da Taça Houligant. Com certeza. Era importante para a carreira dela. Com um pouco de sorte, seria Miss Houligant. Mas é claro.
Aliás, todas começavam assim.
Meinthe decidiu usar o Dodge. Se fosse polido na véspera da Taça, aquele modelo ainda faria boa impressão. A capota bege estava quase nova.
À medida que os dias passavam e nos aproximávamos do domingo, 9 de julho, Yvonne dava cada vez mais sinais de nervosismo. Virava copos, não ficava quieta, falava
asperamente com o cachorro. E este lhe lançava um olhar de doce misericórdia.
Meinthe e eu tentávamos tranqüilizá-la. A Taça com certeza seria menos desgastante para ela do que a filmagem. Cinco minutinhos. Alguns passos diante do júri. Nada
mais. E em caso de insucesso, o consolo de poder dizer-se que, entre todas as concorrentes, era a única que já tinha feito cinema. Uma profissional, de certo modo.
Não devíamos ser apanhados de surpresa e Meinthe nos propôs um ensaio geral, na sexta-feira à tarde, ao longo de uma grande aléia sombreada, atrás do hotel Alhambra.
Sentado numa cadeira de jardim, eu representava o júri. O Dodge avançava lentamente. Yvonne exibia um sorriso crispado, Meinthe dirigia com a mão direita. O cachorro
estava de costas para eles e se mantinha imóvel, de figura de proa.
Meinthe parou bem na minha frente e, apoiando-se com a mão esquerda na porta, num pulo nervoso, saltou por cima. Caiu com elegância, as pernas fechadas, o busto
erguido. Depois de esboçar uma saudação de cabeça, contornou o Dodge a passos miúdos e abriu com um gesto seco a porta de Yvonne. Ela saiu, segurando a coleira
do cão, e deu alguns passos tímidos. O dogue alemão mantinha a cabeça baixa. Retomaram seus lugares e Meinthe saltou de novo por cima da porta, para se recolocar
ao volante. Admirei sua agilidade.
57
Ele estava bastante decidido a repetir a façanha diante do júri. Iam ver a cara do Dudu Hendrickx.
Na véspera, Yvonne quis tomar champanhe. Teve um sono agitado. Era aquela menininha que quase chora antes de subir ao estrado no dia da festa da escola.
Meinthe tinha marcado encontro conosco no saguão às dez em ponto da manhã. A Taça começava ao meio-dia, mas ele precisava de tempo para acertar alguns detalhes:
exame geral do Dodge, conselhos diversos a Yvonne, e talvez também alguns exercícios de agilidade.
Fez questão de assistir aos últimos preparativos de Yvonne: ela hesitava entre um turbante rosa fúcsia e um grande chapéu de palha. "O turbante, querida, o turbante",
resolveu ele, excedendo-se na voz. Ela tinha escolhido um vestido tipo mantô em tecido branco. Meinthe, por sua vez, vestia um terno de xantungue cor de areia.
Eu me lembro das roupas.
Saímos, Yvonne, Meinthe, o cão e eu, debaixo do sol. Uma manhã de julho como nunca vi depois. Um vento ligeiro agitava a grande bandeira presa no topo de um mastro,
diante do hotel. Cores azul e ouro. A que país pertenciam?
Descemos na banguela o bulevar Carabacel. Os automóveis dos outros concorrentes já estavam estacionados, de cada lado da aléia muito larga que levava ao Sporting.
Ouviriam seus nomes e seu número graças a um alto-falante e deveriam logo se apresentar diante do júri. Este ficava na varanda do restaurante. Como a aléia terminava
num anel, num plano inferior, ele teria uma visão profunda da manifestação.
Meinthe tinha mandado eu me colocar o mais próximo possível dos jurados e observar o desenvolvimento da Taça nos mínimos detalhes. Eu tinha que vigiar principalmente
o rosto de Dudu Hendrickx enquanto Meinthe se desincumbia de seu número de altos volteios. Se houvesse necessidade, eu poderia fazer algumas anotações.
58
Esperávamos, sentados no Dodge. Yvonne, com a testa quase colada no retrovisor, verificava a maquiagem. Meinthe tinha posto estranhos óculos escuros de armação
de aço e batia no queixo e nas têmporas com o lenço. Eu acariciava o cachorro que nos lançava, a um de cada vez, olhares desolados. Estávamos parados ao lado de
uma quadra de tênis onde quatro jogadores - dois homens e duas mulheres - disputavam uma partida e, querendo distrair Yvonne, mostrei a ela que um dos tenistas
se parecia com o ator cômico francês Fernandel. "E se for ele?", sugeri. Mas Yvonne não me escutava. Suas mãos tremiam. Meinthe escondia sua ansiedade com uma tossida.
Ele ligou o rádio, que cobriu o barulho monótono e exasperante das bolas de tênis. Permanecíamos imóveis, os três, o coração batendo, escutando um noticiário.
Enfim o alto-falante anunciou: "Pede-se aos caros concorrentes à Taça Houligant de elegância que se preparem." E dois ou três minutos mais tarde: "Os concorrentes
número um, senhor e senhora Jean Hatmer!" Meinthe teve um ricto nervoso. Beijei Yvonne e lhe desejei boa sorte, e me dirigi por um desvio, rumo ao restaurante
do Sporting. Também me sentia bastante emocionado.
O júri estava atrás de uma fileira de mesas de madeira branca, cada uma munida de um guarda-sol verde e vermelho. Em toda a volta, um grande número de espectadores
se comprimia. Uns tinham a sorte de estar sentados, consumindo aperitivos, outros estavam de pé, em roupa de praia. Insinuei-me o mais próximo possível dos jurados,
como queria Meinthe, para vigiá-los.
Logo reconheci André de Fouquières, cuja fotografia eu tinha visto na capa de suas obras (os livros preferidos de meu pai. Ele os tinha recomendado e me deram
grande prazer). Fouquières usava um panamá, amarrado com uma fita de seda azul-marinho. Apoiava o queixo na palma da mão direita e seu rosto exprimia uma elegante
lassidão. Ele se entediava. Em sua idade, todos aqueles veranistas de biquínis e maiôs leopardo
59
lhe pareciam marcianos. Ninguém com quem falar de Émilienne d'Alençon ou de La Gandara. Com exceção de mim, se a ocasião se apresentasse.
O qüinquagenário de cabeça leonina, cabelos louros (pintava?) e pele queimada: Dudu Hendrickx, na certa. Falava sem parar com os vizinhos e ria alto. Tinha o olho
azul e emanava dele uma saudável e dinâmica vulgaridade. Uma mulher morena, de aspecto muito burguês, dirigia ao ex-esquiador sorrisos cúmplices: a presidente
do golfe de Chavoire ou a do departamento de turismo? A senhora Sandoz? Gamange (ou Gamonge), o homem do cinema, devia ser aquele sujeito de óculos de tartaruga
e roupas de cidade: jaquetão cruzado cinza com finas listras brancas. Se faço um esforço, aparece um personagem de cerca de cinqüenta anos, de cabelo cinza-azulado
ondulado e boca gulosa. Empinava o nariz no vento, e o queixo também, sem dúvida querendo parecer enérgico e tudo supervisionar, O subprefeito? Sr. Sandoz? E
o dançarino José Torres? Não, ele não tinha vindo.
Já um Peugeot 203 conversível cor grená avançava ao longo da aléia, parava no meio do anel e uma mulher num vestido bufante na cintura punha o pé no chão, com
um canicho anão debaixo do braço. O homem permanecia ao volante. Ela dava alguns passos diante do júri. Calçava sapatos pretos de salto agulha. Uma loura oxigenada,
como aquelas de que devia gostar o ex-rei Faruk do Egito, de que tantas me falou meu pai e cuja mão ele dizia ter beijado. O homem do cabelo cinza-azulado ondulado
anunciou: "Senhora Jean Hatmer", com uma voz dental, e sua boca moldava as sílabas desse nome. Ela soltou o canicho anão, que caiu sobre as patas, e andou mais
ou menos tentando imitar as modelos num desfile de alta costura: olhar vazio, cabeça flutuante. Em seguida, retomou seu lugar, no Peugeot. Aplausos tímidos. Seu
marido usava penteado à escova. Eu notei seu rosto tenso. Ele deu marcha à ré, depois uma hábil meia-volta e se via que para ele era questão de honra dirigir o
melhor possível. Deve ter lustrado ele mesmo seu Peugeot
60
para que brilhasse tanto. Decidi que se tratava de um casal jovem; ele, engenheiro, vindo de uma boa família burguesa, ela, de extração mais modesta: todos dois
muito esportivos. E, com meu hábito de tudo situar, imaginei-os morando num pequeno apartamento cosy da rua Docteur-Blanche, em Auteuil.
Sucederam-se outros concorrentes. Esqueci-os, ai de mim, com poucas exceções. Aquela eurasiana de trinta anos, mais ou menos, por exemplo, que acompanhava um homem
gordo e vermelho. Estavam num Nash conversível, cor verde água. Quando ela saiu do carro, deu um passo de autômato na direção do júri e parou. Foi tomada por um
tremor nervoso. Lançava olhares enlouquecidos a sua volta, sem mexer a cabeça. O gordo vermelho dentro do Nash a chamava "Monique... Monique... Monique..." e
poder-se-ia dizer que era um queixume, uma reza para domesticar um animal exótico e arisco. Ele saiu, por sua vez, e a puxou pela mão. Levou-a gentilmente ao assento.
Ela explodiu em soluços. Ele então deu a partida cantando pneu e ao virar só faltou varrer o júri. E aquele casal de sexagenários simpáticos cujos nomes gravei:
Jackie e Tounette Roland-Michel. Chegaram a bordo de um Studebaker cinza e se apresentaram juntos diante do júri. Ela, uma ruiva grande de rosto enérgico e cavalar,
de roupa de tênis. Ele, de estatura mediana, bigodinho, nariz importante, sorriso zombeteiro, físico de francês de verdade, como o imaginaria um produtor californiano.
Personalidades, com certeza, posto que o sujeito de cabelo cinza-azulado tinha anunciado: "Nossos amigos Tounette e Jackie Roland-Michel". Três ou quatro membros
do júri (entre os quais a mulher morena e Daniel Hendrickx) tinham aplaudido. Fouquières, de sua parte, sequer se deu o trabalho de honrá-los com um olhar. Eles
fizeram um cumprimento inclinando a cabeça, num movimento sincronizado. Comportaram-se bem e tinham os dois uma aparência muito satisfeita.
"Número 32. Senhorita Yvonne Jacquet e doutor René Meinthe." Pensei que fosse desmaiar. Em primeiro lugar, já não via mais nada, como se tivesse me levantado bruscamente,
61
depois de ter passado o dia inteiro deitado num sofá. E a voz que pronunciava seus nomes repercutia de todos os lados. Eu me apoiava no ombro de alguém, sentado
a minha frente, e me dei conta tarde demais de que se tratava de André de Fouquières. Ele se virou. Gaguejei umas desculpas moles. Impossível descolar minha mão
de seu ombro. Tive que me inclinar para trás, trazer pouco a pouco meu braço de volta contra o peito, crispando-me para combater um langor de chumbo. Não os vi
chegar no Dodge. Meinthe tinha parado o automóvel diante do júri. Os faróis estavam acesos. Meu mal-estar dava lugar a uma espécie de euforia e eu percebia as coisas
de maneira mais aguda que nos momentos normais. Meinthe buzinou três vezes e li nos rostos de diversos membros do júri um ligeiro espanto. O próprio Fouquières
pareceu interessado. Daniel Hendrickx sorria mas, em minha opinião, forçado. Aliás, aquilo era mesmo um sorriso? Não, chacota congelada. Eles não se moviam do
carro. Meinthe apagava e depois acendia outra vez os faróis. Aonde queria chegar? Pôs em movimento os limpadores de párabrisa. O rosto de Yvonne estava limpo, impenetrável.
E, de repente, Meinthe saltou. Um murmúrio percorreu o júri, os espectadores. Aquele salto não tinha comparação com o do "ensaio" da sexta-feira. Ele não se contentou
com passar por sobre a porta, mas pulou, ergueu-se no ar, jogou as pernas num movimento seco, caiu com agilidade, tudo num só impulso, numa só descarga elétrica.
E eu sentia tanta raiva, nervosismo e provocação quimérica naquilo que o aplaudi. Ele dava a volta em torno do Dodge, às vezes parando, congelando, como se andasse
por um campo minado. Todos os membros do júri observavam de boca aberta. Tinha-se a certeza de que ele corria perigo e quando, enfim, abriu a porta, alguns soltaram
um suspiro de alívio.
Ela saiu em seu vestido branco. O cachorro a seguiu, num salto preguiçoso. Mas ela não caminhou para lá e para cá na frente do júri como tinham feito as outras
concorrentes. Apoiouse na capota e ficou lá, a examinar Fouquières, Hendrickx, os outros, um sorriso insolente nos lábios. E num gesto imprevisível
62
arrancou o turbante e o jogou displicentemente para trás. Passou uma das mãos pelos cabelos para estendê-los sobre os ombros. O cachorro, por sua vez, pulou para
cima do Dodge e logo assumiu sua posição de esfinge. Ela o acariciava com a mão distraída. Meinthe, atrás, esperava ao volante.
Hoje, quando penso nela, é essa imagem que me vem com mais freqüência. Seu sorriso e seus cabelos ruivos. O cão branco e preto ao lado dela. O Dodge bege. E Meinthe,
que mal se distingue por trás do pára-brisa do automóvel. E os faróis acesos. E os raios de sol.
Lentamente, ela deslizou até a porta e a abriu sem tirar os olhos do júri. Retomou seu lugar. O cachorro saltou para o banco. de trás tão casualmente que me parece,
quando reconstituo essa cena em detalhe, vê-lo saltar em câmera lenta. E o Dodge - mas talvez não se deva confiar nas lembranças - sai do anel em marcha à ré.
E Meinthe (esse gesto também figura num filme tomado em câmera lenta) lança uma rosa. Ela cai sobre o paletó de Daniel Hendrickx, que a apanha e olha fixamente,
idiotizado. Não sabe o que fazer com ela. Nem ousa pô-la sobre a mesa. Enfim, dá uma gargalhada estúpida e a oferece a sua vizinha, a mulher morena cuja identidade
ignoro, mas que deve ser esposa do presidente do departamento de turismo, ou do presidente do golfe clube de Chavoires. Ou, quem sabe? Senhora Sandoz.
Antes de o carro entrar na aléia, Yvonne se vira e acena com o braço para os membros do júri. Acho até que ela manda um beijo a todos.
Eles deliberam em voz baixa. Três professores de natação do Sporting nos pediram delicadamente que nos afastássemos alguns metros, para não infringir o sigilo
da discussão. Os jurados tinham, cada um diante de si, uma folha onde figuravam o nome e o número dos diversos concorrentes. E tinham que pôr uma nota, à medida
que iam passando.
63
Eles rabiscam uma coisa qualquer em pedaços de papel, dobram-nos. Em seguida, fazem uma pilha dos boletins, Hendrickx os arruma e rearruma com as mãozinhas de
manicure que contrastam com a largura de seus ombros e sua grossura. Fica também encarregado do exame. Anuncia nomes e números: Hatmer, 14; Tissot, 16; Roland-Michel,
17; Azuelos, 12; mas é inútil atentar na escuta, não entendo a maioria dos nomes. O homem das ondulações e da boca gulosa inscreve os números numa caderneta. Eles
ainda entretêm um animado conciliábulo. Os mais veementes são Hendrickx, a mulher morena e o homem dos cabelos cinza-azulados. Este sorri sem cessar, para exibir
- suponho - uma carreira de dentes soberbos e lança a sua volta olhares que deseja serem charmosos: rápidas batidas de cílios com as quais busca parecer cândido
e maravilhado com tudo. Boca que avança, impaciente. Um gastrônomo, com certeza. E também o que na gíria se chama de "viciado". Deve existir uma rivalidade entre
ele e Dudu Hendrickx. Eles disputam as conquistas femininas, eu poderia jurar. Mas no momento, afetam o ar grave e responsável de membros de um conselho de administração.
Fouquières, por sua vez, se desinteressa completamente daquilo tudo. Rabisca sua folha de papel, com as sobrancelhas franzidas numa expressão de arrogância irônica.
O que vê? Com que cena do passado sonha? Com sua última entrevista com Lucie Delarue-Mardrus? Hendrickx se inclina para ele, muito respeitoso, e lhe faz uma pergunta.
Fouquières responde sem querer olhá-lo. Depois Hendrickx vai questionar Ganonge (ou Gamange), o "cineasta", sentado à última mesa à direita. Volta na direção
do homem de cabelos cinza-azulados. Eles têm uma breve altercação e os ouço pronunciar diversas vezes o nome "Roland-Michel". Enfim o "cinza-azul ondulado" - chamálo-ei
assim - avança na direção de um microfone e anuncia numa voz glacial:
- Senhoras e senhores, dentro de um minuto vamos dar os resultados desta Taça Houligant de elegância.
64
O mal-estar volta a tomar conta de mim. Tudo se embaça a minha volta. Pergunto-me onde podem estar Yvonne e Meinthe. Esperam no lugar onde os deixei, ao lado da
quadra de tênis? E se tivessem me abandonado?
- Por cinco votos a quatro - a voz do "cinza-azul ondulado" sobe, sobe. - Eu repito: por cinco votos a quatro para nossos amigos Roland-Michel (ele pronunciou nossos
amigos martelando as sílabas e sua voz está agora tão aguda quanto a de uma mulher), conhecidos e apreciados por todos e cujo espírito esportivo quero saudar...
e que teriam merecido - é o que penso, pessoalmente - levar esta taça da elegância... (ele deu um soco na mesa, mas sua voz ficava cada vez mais alquebrada)...
a taça foi concedida (ele faz uma pausa), à senhorita Yvonne Jacquet, que estava acompanhada do senhor René Meinthe... Confesso, eu tinha lágrimas nos olhos.
Eles tinham que se apresentar uma última vez diante do júri e receber a taça. Todas as crianças da praia tinham se reunido aos outros espectadores e esperavam,
superexcitadas. Os músicos da orquestra do Sporting tinham tomado seu lugar habitual, debaixo do grande dossel verde e branco, no meio do terraço. Afinavam os
instrumentos.
O Dodge surgiu. Yvonne estava meio inclinada sobre a capota. Meinthe dirigia lentamente. Ela pulou para o chão e avançou, muito timidamente, até o júri. Aplaudiram
muito.
Hendrickx desceu na direção dela brandindo a taça. Entregou-a a ela e a beijou nas duas bochechas. E depois outras pessoas vieram felicitá-la. O próprio André de
Fouquières apertou sua mão e ela não sabia quem era aquele velho senhor. Meinthe foi ter com ela. Percorria com o olhar o terraço do Sporting e logo me notou.
Gritou: "Victor... Victor" e fez sinais ostensivos para mim. Corri na direção deles. Estava salvo. Gostaria de beijar Yvonne, mas ela já estava cercada. Alguns
serventes,
cada um levando duas bandejas de taças de champanhe,
65
tentavam abrir passagem.A assembléia brindava, bebia, tagarelava sob o sol. Meinthe permanecia a meu lado, mudo e impenetrável atrás dos óculos escuros. A alguns
metros de mim, Hendrickx, muito agitado, apresentava a Yvonne a mulher morena, Gamonge (ou Ganonge) e duas ou três pessoas. Ela pensava em outra coisa. Em mim?
Eu não ousava acreditar.
Todo mundo ficava mais e mais alegre. Riam. Interpelavam-se, comprimiam-se uns contra os outros. O maestro da orquestra dirigiu-se a Meinthe e a mim para saber que
"peça" deveria executar em homenagem à taça e à "charmosa vencedora". Ficamos um instante atrapalhados, mas como provisoriamente eu me chamava Chmara e sentia
o coração cigano, pedi que tocassem Olhos negros,
Uma "noitada" na Sainte-Rose estava prevista, para festejar aquela quinta Taça Houligant e Yvonne, a vencedora do dia. Ela escolheu um vestido delamê ouro velho
para vestir.
Ela tinha posto a taça sobre a mesa de cabeceira, ao lado do livro de Maurois. Aquela taça era, na realidade, uma estatueta representando uma dançarina na ponta
do pé sobre uma pequena base onde tinham gravado em letras góticas: "Taça Houligant. 12 prêmio". Mais embaixo o número do ano.
Antes de ir, ela a acariciou com a mão, depois se pendurou em meu pescoço.
- Você não acha isso maravilhoso? perguntou. Quis que eu pusesse o monóculo e aceitei, pois aquela não era uma noite como as outras.
Meinthe usava um terno verde claro muito suave, muito fresco. Durante todo o trajeto até Voirens, zombou dos membros do júri. O "cinza-azul ondulado"chamava-se
Raoul Fossorié e dirigia o departamento de turismo. A mulher morena era casada com o presidente do clube de golfe de Chavoires: sim, na época, estava flertando
com aquele "boi gordo", o Dudu Hendrickx. Meinthe o detestava. Um personagem. dizia ele, que há trinta anos brincava graciosamente nas pistas de esqui. (Pensei
no herói de Liebesbriefe aufdem Berg, o filme de Yvonne); Hendrickx tinha feito em 1943 as belas noites de L'Équipe e do Chamais de Megève, mas hoje estava
chegando aos cinqüenta e cada vez mais se parecia com um "sátiro". Meinthe pontuava seu discurso com "Não é, Yvonne?" irônicos e carregados de subentendidos.
Por quê? E como Yvonne e ele tinham tanta familiaridade com aquela gente toda?
Quando aparecemos na pérgula da Sainte-Rose, umas palmas fracas saudaram Yvonne. Vinham de uma mesa de cerca de dez pessoas, entre as quais Hendrickx, no trono.
Este nos apontava. Um fotógrafo levantou-se e nos ofuscou com seu flash. O gerente, aquele chamado Pulli, puxava três cadeiras para nós, depois voltava e, com
muito zelo, estendia uma orquídea a Yvonne. Ela agradecia.
- Neste grande dia, a honra é minha, senhorita. E bravo! Ele tinha sotaque italiano. Curvava-se à frente de Meinthe. - Senhor?... - dizia-me ele, o sorriso enviesado,
sem dúvida incomodado por não poder me chamar pelo nome.
- Victor Chmara. - Ah... Chmara...? Aparentava surpresa e franzia as sobrancelhas. - Senhor Chmara...
- Sim. Lançava-me um olhar estranho. - Já já estarei à sua disposição, senhor Chmara... E se dirigia rumo à escada que levava ao bar do térreo. Yvonne estava
sentada ao lado de Hendrickx e nós nos encontrávamos, Meinthe e eu, em frente a eles. Eu reconhecia, entre meus vizinhos, a mulher morena do júri, Tounette e Jackie
Roland-Michel, um homem de cabelos grisalhos muito curtos e de rosto enérgico de ex-aviador ou militar: o diretor do clube de golfe, com certeza. Raoul Fossorié
estava no fim da mesa e mordiscava um palito de fósforo. As três ou quatro outras pessoas, entre as quais duas louras muito bronzeadas, eu estava vendo pela primeira
vez.
67
vv
Não havia muita gente, naquela noite, na Sainte-Rose. Ainda era cedo. A orquestra tocava uma canção que se ouvia muito e cuja letra um dos músicos sussurrava:
L'amour, c'est comme un jour Ça s 'en va, ça s 'en va L'amour
Hendrickx tinha envolvido com o braço direito as espáduas de Yvonne e eu me perguntava aonde queria chegar. Virava-me para Meinthe. Ele se escondia atrás de outro
par de óculos escuros, com armação maciça de tartaruga, e nervosamente tamborilava na tábua da mesa. Eu não ousava lhe dirigir a palavra.
- Então, contente de estar com sua taça? - perguntou Hendrickx com uma voz carinhosa.
Yvonne me lançava um olhar aborrecido. - Foi um pouco graças a mim... Mas claro, aquele devia ser um bom sujeito. Por que eu estava sempre desconfiando do primeiro
que aparecia?
- Fossorié não queria. Hein, Raoul? Você não queria... E Hendrickx caía na gargalhada. Fossorié dava uma tragada no cigarro. Afetava grande calma.
- Nada disso, Daniel, nada disso. Você está enganado... E moldava as sílabas de um modo que eu achava obsceno. "Hipócrita!", exclamava Hendrickx sem maldade alguma.
Essa réplica fazia rir a mulher morena, as duas louras bronzeadas (o nome de uma delas me volta de repente: Meg Devillers) e até o sujeito com cara de ex-oficial
da cavalaria. Os Roland-Michel, por sua vez, esforçavam-se por compartilhar a hilaridade dos outros, mas sem vontade. Yvonne me piscava o olho. Meinthe continuava
tamborilando.
- Seus favoritos - continuava Hendrickx - eram Jackie e Tounette... Hein, Raoul? - Depois, voltando-se para Yvonne:
Você devia apertar a mão dos nossos amigos Roland-Michel, Seus infelizes concorrentes...
68
Yvonne o fez. Jackie ostentava uma expressão jovial, mas Tounette Roland-Michel olhou Yvonne diretamente nos olhos. Parecia estar com raiva dela.
- Um de seus pretendentes? - perguntou Hendrickx. Ele me apontava.
- Meu noivo - respondeu arrogantemente Yvonne. Meinthe levantou a cabeça. A bochecha esquerda e a fenda dos lábios de novo foram tomadas pelos tiques.
- Tínhamos esquecido de lhe apresentar nosso amigo - disse ele numa voz afetada. - O conde Victor Chmara...
Pronunciara "conde" insistindo nas sílabas e fazendo uma pausa. Em seguida, voltando-se para mim:
- O senhor tem diante de si um dos ases do esqui francês: Daniel Hendrickx.
Este sorriu, mas senti que suspeitava das reações imprevisíveis de Meinthe. Com certeza o conhecia de longa data.
- É claro, meu caro Victor, o senhor é jovem demais para que este nome lhe diga alguma coisa - acrescentou Meinthe.
Os outros esperavam. Hendrickx se preparava para receber o golpe com fingida indiferença.
- Suponho que o senhor não era nascido quando Daniel Hendrickx ganhou a modalidade combinada...
- Por que o senhor diz coisas assim, René? - perguntou Fossorié num tom muito doce, muito oleoso, moldando ainda mais as sílabas, a tal ponto que se poderia esperar
que saíssem de sua boca aqueles doces puxa-puxa que se compra nas feiras.
- Eu estava lá quando ele ganhou o slalom e o combinado - declarou uma das louras bronzeadas, a que se chamava Meg Devillers - não faz tanto tempo...
Hendrickx deu de ombros e, como a orquestra tocava os primeiros compassos de uma música lenta, ele aproveitou para convidar Yvonne para dançar. Fossorié os seguiu,
acompanhado de Meg Devillers. O diretor do clube de golfe levou a outra loura bronzeada. E os Roland-Michel, por sua vez, avançaram
69
para a pista. Estavam de mãos dadas. Meinthe curvou-se diante da mulher morena:
- Então, nós também, vamos dançar um pouco... Fiquei sozinho à mesa. Não tirava os olhos de Yvonne e Hendrickx. De longe, ele tinha uma certa presença: media em
torno de um metro e oitenta, 85, e a luz que envolvia a pista azul, com uma pitada de rosa - adocicava seu rosto, apagava dele o empastamento e a vulgaridade.
Ele comprimia Yvonne. O que fazer? Quebrar-lhe a cara? Minhas mãos tremiam. Eu podia, é claro, beneficiar-me do efeito surpresa e lhe assentar um murro no meio
da cara. Ou então, me aproximaria por trás e lhe quebraria uma garrafa no crânio. Para quê? Em primeiro lugar me tornaria ridículo para Yvonne. E, depois, essa
conduta não correspondia a meu temperamento dócil, a meu pessimismo natural e a uma certa frouxidão minha.
A orquestra emendou outra música lenta e nenhum dos casais deixou a pista. Hendrickx apertava Yvonne ainda mais. Por que ela o deixava fazer aquilo? Eu espreitava
por uma piscadela que ela me lançasse às escondidas, um sorriso de conivência. Nada. Pulli, o gordo gerente aveludado, aproximou-se prudentemente de minha mesa.
Ficou bem a meu lado, apoiouse no espaldar de uma das cadeiras vazias. Queria falar comigo. A mim, aquilo aborrecia.
- Senhor Chmara... Senhor Chmara... Por educação, virei-me para ele. - Diga-me, o senhor é parente dos Chmara de Alexandria? Ele se debruçava, o olho ávido, e
entendi por que eu tinha escolhido esse nome, que eu achava que tinha saído de minha imaginação: ele pertencia a uma família de Alexandria, de que meu pai me
falava com freqüência.
- Sim. São meus parentes - respondi. - Então o senhor é originário do Egito? - Um pouco. Ele sorriu emocionado. Queria saber mais sobre isso, e eu poderia ter
lhe falado da vila de Sidi-Birsh onde passei alguns
70
anos da infância, do palácio de Abdine e do albergue das Pyram ides, de que guardo uma lembrança muito vaga. Perguntar-lhe, por outro lado, se ele era parente de
um dos conhecidos de meu pai, aquele Antonio Pulli, que tinha a função de confidente e de "secretário" do rei Faruk. Mas estava por demais ocupado com Yvonne e
Hendrickx.
Ela continuava a dançar com aquele sujeito velhusco que, com certeza, pintava o cabelo. Mas talvez ela o fizesse por uma razão precisa que me revelaria quando
estivéssemos sozinhos. Ou talvez, assim, por nada? E se tivesse me esquecido? Nunca senti muita confiança em minha identidade e o pensamento de que não mais me
reconheceria aflorou em mim. Pulli tinha se sentado no lugar de Meinthe:
- Conheci Henri Chmara, no Cairo... Nós nos encontrávamos todas as noites no Chez Groppi ou no Mena House.
Dir-se-ia que me confiava segredos de estado. - Espere... foi no ano em que o rei estava com aquela cantora francesa... Sabe?...
- Ah, sim... Falava cada vez mais baixo. Temia policiais invisíveis. - E o senhor, morou lá?... Os projetores que iluminavam a pista lançavam somente uma fraca
luz cor-de-rosa. Um instante, perdi de vista Yvonne e Hendrickx, mas voltaram a aparecer atrás de Meinthe, Meg Devillers, Fossorié e Tounette Roland-Michel. Esta
fez um comentário por cima do ombro do marido. Yvonne caiu na gargalhada.
- O senhor entende, não se pode esquecer o Egito... Não... Há noites em que me pergunto o que estou fazendo aqui...
Eu também, de repente me fazia aquela pergunta. Por que não fiquei nos Tilleuls lendo meus livros e minhas revistas de cinema? Ele pousou a mão no meu ombro.
-Não sei o que daria para estar na varanda do Pastroudis... Como esquecer o Egito?
- Nem deve existir mais - murmurei.
- O senhor acha mesmo? Lá, Hendrickx se aproveitava da meia penumbra e lhe passava a mão nas nádegas.
Meinthe voltava para nossa mesa. Sozinho. A mulher morena dançava com outro cavalheiro. Deixou-se cair sobre a cadeira.
- Do que estão falando? - Tinha tirado os óculos escuros e me olhava, sorrindo gentilmente: - Tenho certeza de que Pulli estava lhe contando suas histórias de Egito...
- O senhor Chmara é de Alexandria, como eu - declarou secamente Pulli.
- O senhor, Victor? Hendrickx tentava beijá-la no pescoço, mas ela o impedia. Ela se jogava para trás.
- Pulli tem esta boate há dez anos - dizia Meinthe. - No inverno trabalha em Genebra. Pois nunca conseguiu se acostumar com as montanhas.
Ele tinha notado que eu olhava Yvonne dançar e tentava desviar minha atenção.
- Se vier a Genebra no inverno - dizia Meinthe - vou ter que levá-lo nesse lugar, Victor. Pulli reconstituiu exatamente um restaurante que existia no Cairo. Como
é que se chamava mesmo?
- Le Khédival.
- Quando está lá, ele acha que ainda está no Egito e sente um pouco menos de saudade. Não é, Pulli?
- Montanhas de merda! "Não precisa ter saudade", cantarolava Meinthe. "Saudade jamais. Saudade jamais. Jamais."
Continuavam lá com outra dança; Meinthe se inclinou em minha direção:
Não dê atenção, Victor.
72
Os Roland-Michel reuniram-se a nós. Depois, Fossorié e a loura Meg Devillers. Enfim, Yvonne e Hendrickx. Ela veio sentar-se a meu lado e me segurou a mão. Portanto,
não tinha me esquecido. Hendrickx me examinava com curiosidade.
- Então, o senhor é noivo de Yvonne?
- É - disse Meinthe, sem me deixar tempo para responder. - E se tudo der certo, ela logo vai se chamar condessa Yvonne Chmara. O que acha?
Ele o provocava, mas Hendrickx continuava sorrindo.
- Soa melhor que Yvonne Hendrickx, não? acrescentou Meinthe.
- E o que faz esse moço na vida? perguntou Hendrickx num tom pomposo.
- Nada - disse eu, enfiando o monóculo em torno do olho esquerdo. - NADA, NADA.
- Você, sem dúvida, achava que esse moço fosse professor de esqui ou comerciante, como você? -continuava Meinthe.
- Cale a boca, ou quebro-o em mil pedaços - disse Hendrickx, e não se sabia se era ameaça ou brincadeira.
Yvonne, com a unha do indicador, arranhava a palma de minha mão. Pensava em outra coisa. Em quê? A chegada da mulher morena, de seu marido de rosto enérgico, e
a chegada simultânea da outra loura, nada distenderam a atmosfera. Cada um lançava olhares de viés em direção a Meinthe. O que ia fazer? Insultar Hendrickx? Jogar-lhe
um cinzeiro no rosto? Provocar um escândalo? O diretor do clube de golfe acabou dizendo, em tom de conversa social:
- O senhor continua praticando em Genebra, doutor? Meinthe respondeu com aplicação de bom aluno: - Com certeza, senhor Tessier. - É incrível como o senhor me
lembra seu pai... Meinthe deu um sorriso triste. - Oh. Não. Não diga isso... meu pai era bem melhor que eu. Yvonne apoiava seu ombro contra o meu e esse simples
contato me transtornava. E ela, quem era o pai dela? Se Hendrickx lhe tinha simpatia (ou melhor, se a apertava demais
73
ao dançar), eu notava que Tessier, sua mulher e Fossorié não prestavam atenção alguma nela. Os Roland-Michel também não. Cheguei a surpreender uma expressão de
divertido desprezo da parte de Tounette Roland-Michel depois que Yvonne apertou sua mão. Yvonne não pertencia ao mesmo mundo que eles. Ao contrário, pareciam
considerar Meinthe como igual e demonstravam para com ele certa indulgência. E eu? Não era, aos olhos deles, apenas um teenager ardendo de rock and roll? Talvez
não. Minha seriedade, meu monóculo e meu título nobiliário os intrigavam um pouco. Sobretudo a Hendrickx.
- O senhor foi campeão de esqui?- perguntei. - Foi - disse Meinthe - mas isso perde-se na noite dos tempos.
- Imagine - me disse Hendrickx , pousando a mão em meu antebraço - que conheci esse fedelho - ele apontava para Meinthe - quando ele tinha cinco anos. Ele brincava
de boneca.
Felizmente, estourou um cha-cha-cha naquele instante. Passava da meia-noite e os clientes chegavam às pencas. Acotovelavam-se na pista de dança. Hendrickx chamou
Pulli de longe:
- Vá nos buscar champanhe e avisar a orquestra. Piscava o olho para Pulli, que respondia com uma saudação vagamente militar, com o indicador acima da sobrancelha.
-Doutor, o senhor acha que aspirina é recomendável para problemas circulatórios? - perguntava o diretor do clube de golfe. Li algo no gênero na Ciência e Vida.
Meinthe não tinha escutado. Yvonne apoiava a cabeça em meu ombro. A orquestra parou. Pulli trazia uma bandeja, com taças e duas garrafas de champanhe. Hendrickx
se levantava e agitava o braço. Os casais que dançavam e os outros clientes voltaram-se para nossa mesa:
- Senhoras e senhores - clamava Hendrickx -, vamos beber à saúde da feliz ganhadora da Taça Houligant, senhorita Yvonne Jacquet.
Fazia sinal para Yvonne se levantar. Estávamos todos de
74
pé. Brindamos e como eu sentia os olhares fixos sobre nós, simulei um acesso de tosse.
- E agora, senhoras e senhores - continuou Hendrickx num tom enfático -, peço-lhes palmas para a jovem e deliciosa Yvonne Jacquet.
Ouviam-se "bravos" detonando a toda volta. Ela se comprimia de encontro a mim, intimidada. Meu monóculo tinha caído. Os aplausos se prolongavam e eu não ousava
me mover um centímetro. Fixava, diante de mim, a cabeleira volumosa de Fossorié, suas sábias e múltiplas ondulações que se entrecruzavam, aquela curiosa cabeleira
azul-cinza que se assemelhava a um elmo trabalhado.
A orquestra retomou a música interrompida. Um cha-chacha muito lento, em que se reconhecia o tema de Abril em Portugal.
Meinthe se levantou: - Se o senhor não vê inconveniente, Hendrickx (ele o chamava de senhor pela primeira vez), vou deixá-lo, bem como a esta elegante companhia.
- Voltou-se para Yvonne e para mim: - Levo vocês?
Respondi um "sim" dócil. Yvonne levantou-se, por sua vez. Apertou a mão de Fossorié e do diretor de golfe, mas não ousava mais cumprimentar os Roland-Michel nem
as duas louras bronzeadas.
- E para quando é esse casamento? perguntou Hendrickx, apontando para nós.
- Logo que tivermos deixado este sujo vilarejo francês de merda - respondi, muito rapidamente. Todos me olharam de boca aberta.
Por que falei de maneira tão estúpida e grosseira de um vilarejo francês? Ainda me pergunto e peço desculpas. Até Meinthe pareceu magoado por ter escutado aquilo
de mim.
- Vem - disse Yvonne, pegando-me pelo braço.
75
Hendrickx perdeu a voz e me examinou com os olhos arregalados. Sem querer, empurrei Pulli.
- O senhor está indo embora, senhor Chmara? Ele tentava me segurar, apertando-me a mão.
- Vou voltar, vou voltar disse a ele. - Oh, sim, por favor. Voltaremos a falar de todas essas coisas...
E fazia um gesto evasivo. Atravessamos a pista. Meinthe andava atrás de nós. Graças a um jogo de projetores, parecia que caía neve, em flocos grossos, sobre os
casais. Yvonne me levava e tínhamos dificuldade de abrir caminho.
Antes de descer a escada, quis dar uma última olhada na direção da mesa que deixamos.
Toda minha raiva tinha se dissipado e eu lamentava ter perdido o controle.
- Você vem? - disse Yvonne. - Você vem? - Em que está pensando, Victor? - perguntou Meinthe, e me batia no ombro.
Eu permanecia ali, no início da escada, hipnotizado outra vez pela cabeleira de Fossorié. Ela brilhava. Ele devia untá-la com uma espécie de Bakerfix fosforescente.
Quantos esforços e paciência para construir, toda manhã, aquela montagem cinza-azul.
No Dodge, Meinthe disse que tínhamos perdido burramente nossa noite. A culpa caía sobre Daniel Hendrickx que tinha recomendado a Yvonne que viesse com o pretexto
de que todos os membros do júri estariam lá, assim como diversos jornalistas. Nunca se devia acreditar naquele "porcalhão".
- Mas sim, minha querida, você sabe muito bem - acrescentava Meinthe, num tom exasperado. - Pelo menos ele lhe deu o cheque?
- É claro. E eles me revelaram os bastidores dessa noitada tão triunfal: Hendrickx tinha criado a Taça Houligant cinco anos antes.
76
Uma vez sim, outra não, ela era entregue no inverno, em L'Alpe d'Huez ou em Megève. Ele tinha tomado essa iniciativa por esnobismo (escolhia algumas personalidades
da vida social para compor o júri), para cuidar da publicidade (os jornais que falavam da taça citavam Hendrickx, relembrando suas proezas esportivas) e também
por gostar das moças bonitas. Com a promessa de obter a taça, qualquer idiota sucumbia. O cheque era de 800 mil francos. No meio de júri, Hendrickx fazia a lei.
Fossorié bem que gostaria que aquela "taça da elegância" que a cada ano obtinha um vivo sucesso dependesse um pouco mais do departamento de turismo. Daí aquela
rivalidade surda entre os dois homens.
- Pois bem, meu caro Victor - concluiu Meinthe -, o senhor vê como a província é mesquinha.
Ele se virou para mim e me gratificou com um sorriso triste. Nós tínhamos chegado à frente do Casino. Yvonne tinha pedido a Meinthe que nos deixasse lá. Voltaríamos
para o hotel a pé.
- Telefonem para mim amanhã, vocês dois. - Parecia desolado por ficar só. Pendurou-se por cima da porta: - E esqueçam essa noite ignóbil.
Depois deu a partida bruscamente, como se quisesse arrancar-se de nós. Pegou a rua Royale e me perguntei onde passaria a noite.
Durante alguns instantes, admiramos o jato d'água que mudava de cor. Aproximamo-nos o máximo possível e recebemos gotículas sobre o rosto. Empurrei Yvonne. Ela
se debatia gritando. Ela também quis me empurrar de surpresa. Nossas risadas ecoavam pela esplanada deserta.
Lá embaixo, os garçons da Taverne acabavam de arrumar as mesas. Em torno de uma hora da manhã. A noite estava quente e senti uma espécie de embriaguez pensando
que o verão mal começava e que ainda tínhamos à nossa
frente dias e dias para passarmos juntos, para passearmos à noite ou ficarmos no quarto ouvindo o bater felpudo e idiota das bolas de tênis.
77
No primeiro andar do Casino, as janelas envidraçadas estavam iluminadas: a sala de bacará. Percebiam-se vultos. Demos a volta nesse prédio sobre cuja fachada estava
escrito CASINO com letras redondas e passamos da entrada do Brummel, de onde saía música. Sim, naquele verão estavam no ar músicas e canções, sempre as mesmas.
Seguimos a avenida de Albigny pela calçada esquerda, a que ladeia os jardins da prefeitura. Alguns raros automóveis passavam nos dois sentidos. Perguntei a Yvonne
por que ela deixava Hendrickx lhe passar a mão nas nádegas. Ela respondeu que aquilo não tinha a menor importância. Era necessário que fosse gentil com Hendrickx,
pois a tinha feito ganhar a taça e lhe tinha dado um cheque de oitocentos mil francos. Eu disse que em minha opinião devia-se exigir bem mais do que oitocentos
mil francos para se deixar "meter a mão nas nádegas" e que, de todo modo, a Taça Houligant da elegância não tinha interesse algum. Nenhum. Ninguém sabia da existência
dessa taça, com exceção de alguns provincianos desvairados à beira de um lago perdido. Era grotesca, aquela taça. E lastimável. Hein? Em primeiro lugar, o que
se sabia de elegância naquele "buraco saboiano"? Hein? Ela respondeu, numa vozinha afetada, que achava Hendrickx "muito sedutor" e que estava contente de ter dançado
com ele. Eu disse - tentando pronunciar todas as sílabas, sem sucesso, eu comia a metade - que Hendrickx era teimoso e "subserviente" como todos os franceses.
- Mas você também é francês - me disse ela. - Não. Não. Não tenho nada á ver com os franceses. Vocês, os franceses, são incapazes de compreender a verdadeira nobreza,
a verdadeira...
Ela caiu na gargalhada. Eu não a intimidava. Então, declarei - e simulava uma frieza extrema - que no futuro seria de interesse dela não se vangloriar muito da
Taça Houligant de elegância, se não quisesse que rissem dela. Montes de meninas tinham ganho tacinhas ridículas como aquela antes de entrar
78
para a sombra do completo esquecimento. E quantas outras tinham rodado por acaso um filme sem valor, do gênero de Liebesbriefe auf dem Berg... A carreira cinematográfica
delas tinha parado aí. Muitas as chamadas. Poucas as eleitas.
- Você acha que esse filme não tem valor algum? - perguntou ela.
- Acho. Dessa vez, acho que ela sentiu. Andava sem dizer nada. Sentamo-nos no banco do chalé, esperando o funicular. Ela rasgava minuciosamente um velho papel
de cigarro. À medida que ia cortando, punha no chão os pedacinhos de papel, que tinham o tamanho de confetes. Fiquei tão enternecido com a aplicação dela que
lhe beijei as mãos.
O funicular parou antes de Saint-Charles Carabacel. Uma pane, aparentemente, mas àquela hora, ninguém mais iria consertar. Ela estava ainda mais apaixonada do que
de hábito. Pensei que devia me amar pelo menos um pouco. Algumas vezes olhávamos pelo vidro e nos víamos entre céu e terra, com o lago lá embaixo, e os telhados.
O dia vinha chegando.
Saiu, no dia seguinte, um grande artigo na terceira página do Eco da Liberdade.
O título anunciava: "TAÇA HOULIGANT DA ELEGÂNCIA CONCEDIDA PELA QUINTA VEZ".
"Ontem, no final da manhã, no Sporting, uma numerosa platéia acompanhou com curiosidade o desenrolar da quinta Taça Houligant de elegância. Os organizadores, tendo
entregue essa taça no ano passado em Megéve, durante a estação de inverno, preferiram que este ano ela fosse um acontecimento de verão. O sol não faltou ao encontro.
Nunca esteve tão radiante. A maior parte dos espectadores estava em trajes de banho. Notava-se entre eles o Sr. Jean Marchat da Comédie-Française que veio fazer
no teatro do Casino algumas apresentações de Escutem bem, senhores.
"O júri, como de costume, reunia personalidades as mais
79
diversas. Era presidido pelo Sr. André de Fouquières, que de bom grado pôs a serviço da Taça sua longa experiência: pode-se dizer, com efeito, que o Sr. de Fouquières,
tanto em Paris quanto em Deauville, Cannes ou Touquet, participou de e julgou a vida elegante desses últimos cinqüenta anos.
" À sua volta estavam sentados: Daniel Hendrickx, o célebre campeão e promotor da taça; Fossorié, do departamento de turismo; Gamange, cineasta; Sr. e Sra. Tessier,
do clube de golfe; Sr. e Sra. Sandoz, do Windsor; o senhor subprefeito R. A. Roquevillard. Lamentava-se a ausência do dançarino José Torres, que na última hora não
pôde vir.
" A maior parte dos concorrentes honrou a taça; o Sr. e a Sra. Jacques Roland-Michel, de Lyon, de férias, como todos os verões, em sua vila de Chavoires, foram
particularmente notados e vivamente aplaudidos.
" Mas a láurea foi entregue, após diversas rodadas de escrutínio, à senhorita Yvonne Jacquet, de 22 anos, radiante jovem de cabelos ruivos, vestida de branco e seguida
por um impressionante dogue. A senhorita Jacquet, por sua graça e irreverência, deixou no júri uma forte impressão.
" A senhorita Yvonne Jacquet nasceu em nossa cidade e aqui foi educada. Sua família é originária da região. Ela acaba de debutar no cinema, num filme rodado a
alguns quilômetros daqui por um diretor alemão. Desejamos à senhorita Jacquet, nossa compatriota, boa sorte e sucesso.
" Ela estava acompanhada pelo Sr. René Meinthe, filho do doutor Henri Meinthe. Esse nome despertará em algumas pessoas muitas lembranças. O doutor Henri Meinthe,
de antiga cepa saboiana, foi, com efeito, um dos heróis e mártires da Resistência. Uma rua da nossa cidade leva seu nome."
Uma grande fotografia ilustrava o artigo. Tinha sido tirada na Sainte-Rose, justamente no momento em que ali entrávamos. Estávamos de pé, os três, Yvonne e eu um
ao lado do outro, Meinthe, ligeiramente atrás. Embaixo, a legenda indicava: "Senhorita Yvonne Jacquet, Sr. René Meinthe e um de seus
80
amigos, o conde Victor Chmara." O clichê estava muito nítido, apesar do papel jornal. Yvonne e eu tínhamos um ar sério. Meinthe sorria. Nós fixávamos um ponto
no horizonte. Guardei comigo aquela fotografia durante vários anos antes de incluí-la entre outras recordações e, uma noite em que a olhava com melancolia, não
pude me impedir de escrever através dela, com lápis vermelho: "Reis por um dia".
VIII
- Um porto, o mais claro possível, minha pequena - repete Meinthe.
A garçonete não entende. - Claro? - Muito, muito claro. Mas disse isso sem convicção. Passa a mão sobre as bochechas mal barbeadas. Há 12 anos, barbeava-se
duas ou três vezes por dia. No fundo do porta-luvas do Dodge ficava um barbeador elétrico mas, dizia, esse aparelho de nada lhe servia, de tão dura que era sua
barba. Chegava a quebrar com ela as lâminas extra-azuis.
A garçonete retorna, com uma garrafa de Sandeman, e lhe serve um copo:
- Não tenho porto... claro. Cochichou "claro", como se tratasse de uma palavra vergonhosa.
- Não tem problema, minha pequena - responde Meinthe.
E ele sorri. Rejuvenesceu de repente. Sopra no copo e observa as listras na superfície do porto.
- Não teria um canudo, minha pequena?
82
Ela traz 'de má vontade, com o rosto emburrado. Não tem mais do que vinte anos. Deve dizer-se: "Até que horas esse bêbado vai ficar aqui? E o outro, lá no fundo,
com seu paletó xadrez?" Como todas as noites às 11 horas, ela acaba de substituir Geneviève, aquela que já encontrava lá no início dos anos sessenta e que, durante
o dia, tomava conta do bar do Sporting, perto das cabines. Uma loura graciosa. Tinha, ao que parece, um sopro no coração.
Meinthe voltou na direção do homem de casaco xadrez. Aquele paletó é o único elemento pelo qual pode atrair atenção sobre si. Fora isso, tudo é medíocre em seu
rosto: bigodinho preto, nariz bastante grande, cabelos castanhos puxados para trás. Ele que, um instante antes, tinha aparência de bêbado, mantém-se muito ereto,
com uma expressão de suficiência no canto dos lábios:
- Pode me pedir... a voz está pastosa e hesitante - o 233 em Chambéry...
A garçonete disca o número. Alguém responde do outro lado da linha. Mas o homem de casaco xadrez permanece, todo ereto, à mesa.
- Senhor, estou com a pessoa ao telefone - inquieta-se a garçonete.
Ele não se move um milímetro. Tem os olhos grandes abertos e o queixo ligeiramente para a frente.
- Senhor... Ele parece de mármore. Ela desliga. Deve estar começando a ficar inquieta. Esses dois clientes são mesmo estranhos... Meinthe acompanhou a cena de
sobrancelhas franzidas. Ao final de alguns minutos, o outro recomeça, numa voz ainda mais surda:
- Por favor, quer pedir... Ela dá de ombros. Então Meinthe se debruça sobre o telefone e disca ele mesmo o número. Quando escuta a voz, empurra o aparelho na direção
do homem de paletó xadrez, mas este não faz um movimento. Fixa Meinthe com os olhos grandes abertos.
83
- Vamos, senhor... - murmura Meinthe. - Vamos... Ele acaba pondo o aparelho no bar e sacode os ombros. - A senhora talvez esteja com vontade de ir dormir, minha
pequena - diz ele à garçonete. - Não quero lhe prender.
- Não. De todo modo, aqui fecha às duas da manhã... vai vir gente.
- Gente? - Está havendo um congresso. Eles vêm para cá. Ela se serve um Copo Coca-Cola. - Não é muito alegre aqui no inverno, hein? - constata Meinthe.
- Eu vou-me embora para Paris - ela diz, num tom agressivo.
- A senhora tem razão. O outro, atrás, estalou os dedos. - Eu queria outro dry, por favor - e depois acrescenta -, e o número 233 em Chambéry...
Meinthe disca outra vez o número e, sem se virar, põe o aparelho de telefone ao lado dele, num tamborete. A menina solta uma risada doida. Ele ergue a cabeça e
seus olhos pousam nas velhas fotografias de Émile Allais e de James Couttet, em cima das garrafas de aperitivos. Juntaram a elas uma fotografia de Daniel Hendrickx,
que morreu, há alguns anos, num acidente de automóvel. Com certeza uma iniciativa de Geneviève, a outra garçonete. Ela era apaixonada por Hendrickx no tempo em
que trabalhava no Sporting. No tempo da Taça Houligant.
84
IX
Essa taça, onde se encontra agora? No fundo de que estante? De que quarto de despejo? Nos últimos tempos, servia de cinzeiro. A base que sustentava a bailarina
tinha uma borda circular. Ali apagávamos nossos cigarros. Devemos tê-la esquecido no quarto do hotel e me surpreendo, eu, que sou ligado aos objetos, de não tê-la
trazido.
No início, no entanto, Yvonne parecia apreciá-la. Pôs bem em evidência na escrivaninha do salão. Era o princípio de uma carreira. Em seguida viriam as Victoires
e os Oscars. Mais tarde, viria a falar dela com carinho diante dos jornalistas - pois para mim não havia a menor dúvida de que Yvonne ia se tornar estrela de cinema.
Enquanto esperávamos, tínhamos pregado no banheiro o grande artigo do Eco da Liberdade.
Passávamos os dias no ócio. Levantávamo-nos bastante cedo. De manhã, freqüentemente havia bruma - ou melhor, um vapor azul que nos libertava das leis da gravidade.
Éramos tão leves, tão leves... Quando descíamos o bulevar Carabacel, mal tocávamos a calçada. Nove horas. O sol logo iria dissipar aquela bruma sutil. Nenhum
cliente, ainda, na praia do Sporting. Éramos os únicos seres vivos com um dos meninos do banho, vestido de branco, que cuidava das espreguiçadeiras e dos
85
guarda-sóis. Yvonne usava um maiô duas peças cor de opala e eu tinha tomado emprestada sua saída. Ela se banhava. Eu a olhava nadar. O cachorro também a seguia
com
os olhos. Ela me acenava e gritava, rindo, para que eu fosse ter com ela. Eu me dizia que aquilo tudo era muito bonito e que amanhã uma catástrofe ia acontecer.
No dia 12 de julho de 39, eu pensava, um sujeito do meu tipo, vestido de saída de banho com listras vermelhas e verdes, olhava sua noiva nadar na piscina do EdenRoc.
Ele tinha medo, como eu, de escutar rádio. Mesmo aqui, no cabo de Antibes, não escaparia da guerra... Em sua cabeça acotovelavam-se nomes de refúgios, mas não
teria tempo para desertar. Durante alguns segundos um terror inexplicável me invadia e depois ela saía da água e vinha deitar-se a meu lado para tomar um banho
de sol.
Por volta das 11 horas, quando as pessoas começavam a invadir o Sporting, refugiávamo-nos numa espécie de pequeno ancoradouro. Chegava-se ali da varanda do restaurante
por uma escada desmoronada que datava do tempo do senhor GordonGramme. Em baixo, uma praia de seixos e pedras; um chalé minúsculo, de uma só peça, com janelas,
postigos. Na porta tremulante, duas iniciais gravadas na madeira, em letras góticas: G-G - Gordon-Gramme - e a data: 1903. Com certeza, ele mesmo tinha construído
aquela casa de boneca e vindo recolher-se ali. Delicado e previdente Gordon-Gramme. Quando o sol batia muito forte, ficávamos uns instantes lá dentro. Penumbra.
Uma réstia de luz no umbral. Um ligeiro odor de mofo pairava, a que acabamos nos acostumando. Ruído- de ressaca, tão monótono e tranqüilizante como o das bolas
de tênis. Fechávamos a porta.
Ela se banhava e se esticava ao sol. Eu preferia a sombra, como meus ancestrais orientais. No início da tarde, voltávamos a subir ao Hermitage, e não deixávamos
o quarto, até as sete ou oito horas da noite. Havia uma sacada muito grande, no meio da qual Yvonne se deitava. Eu me instalava ao lado dela, com
86
um chapéu de feltro "colonial" branco - uma das raras lembranças que eu guardava de meu pai e de que eu gostava ainda mais porque estávamos juntos quando o comprou.
Foi na Sport e Climat, na esquina do bulevar Saint-Germain e da rua SaintDominique. Eu tinha oito anos e meu pai se preparava para viajar para Brazzaville. O que
ia fazer lá? Nunca me disse.
Eu descia ao saguão para buscar revistas. Por causa da clientela estrangeira, encontrava-se a maioria das publicações da Europa. Eu comprava todas: Oggi, Life,
Cinéronde, Der Stern, Confidential... Lançava um olhar oblíquo às manchetes dos diários. Coisas graves aconteciam na Argélia e também na metrópole e no mundo.
Eu preferia não saber. Dava nó na garganta. Desejava que não se falasse demais dessas coisas nas revistas ilustradas. Não. Não. Evitar os assuntos importantes.
De novo, o pânico me tomava. Para me acalmar, virava um Alexandra no bar e tornava a subir com minha pilha de revistas. Nós as líamos, espojando-nos na cama ou
no chão, diante da porta da sacada aberta, entre as manchas douradas que faziam os últimos raios de sol. A filha de Lana Turner tinha matado com uma facada o
amante da mãe. Errol Flynn morreu de ataque cardíaco e à jovem amiga que lhe perguntava onde podia jogar a cinza do cigarro, teve tempo de apontar a bocarra aberta
de um leopardo empalhado. Henri Garat tinha morrido, como um mendigo. E o príncipe Ali Khan também, num acidente de automóvel para os lados de Suresnes. Não me
lembro mais dos acontecimentos felizes. Recortávamos algumas fotografias e as pregávamos nas paredes do quarto. A direção do hotel não parecia se importar.
Tardes vazias. Horas lentas. Yvonne usava freqüentemente um robe de seda preto com bolas vermelhas, furado em alguns pontos. Eu esquecia de tirar meu velho chapéu
de feltro "colonial".
As revistas, meio rasgadas, cobriam o chão. Flocos de âmbar solar caíam por toda parte. O cachorro deitava atravessado numa poltrona. E nós púnhamos discos para
tocar no velho Teppaz. Esquecíamos de acender as lâmpadas.
87
Embaixo, a orquestra começava a tocar e chegavam os que iam jantar. Entre duas músicas, ouvíamos os murmúrios das conversas. Uma voz se destacava daquele zumbido
- voz de mulher - ou gargalhada. E a orquestra recomeçava. Eu deixava aberta a porta da sacada para que aquele zunzunzum e aquela música subissem até nós. Eles
nos protegiam. E além disso, tinham início todo dia à mesma hora e isso queria dizer que o mundo continuava a girar. Até quando?
A porta do banheiro recortava um retângulo de luz. Yvonne se maquiava. Eu, apoiado no balcão, observava aquela gente toda (a maioria em traje de noite), o vaivém
dos garçons, os músicos, de quem acabei conhecendo cada careta. Assim, o maestro se inclinava, com o queixo quase colado no peito. E quando a música acabava,
levantava bruscamente a cabeça, boca aberta, como um homem que estivesse se sufocando. O violinista tinha um rosto amável, um tanto porcino; fechava os olhos e
balançava a cabeça sorvendo o ar.
Yvonne estava pronta. Eu acendia uma lâmpada. Ela sorria para mim e fazia um olhar misterioso. Por divertimento, tinha vestido luvas negras que subiam até a metade
do braço. Estava de pé em meio à desordem do quarto, a cama desfeita, os robes e vestidos espalhados. Saíamos na ponta dos pés evitando o cão, os cinzeiros, o
toca-discos e os copos vazios.
Tarde da noite, quando Meinthe nos tinha levado ao hotel, escutávamos música. Nossos vizinhos mais próximos diversas vezes reclamaram do barulho que fazíamos.
Tratava-se de um industrial lionês - soube disso pelo porteiro - e sua mulher, que vi apertando a mão de Fossorié depois da Taça Houligant. Mandei entregarem
lá um buquê de peônias com este bilhete: "O conde Chmara, desolado, envia-lhes flores."
Quando voltávamos, o cão soltava gemidos queixosos e regulares e aquilo durava em torno de uma hora. Impossível
acalmá-lo. Então preferíamos pôr música para cobrir a voz dele. Enquanto Yvonne se despia e tomava um banho, eu lia para ela algumas páginas do livro de Maurois.
Não desligávamos o tocadiscos, que difundia uma canção frenética. Eu escutava vagamente os socos do industrial lionês na porta de comunicação e a campainha do
telefone. Ele deve ter avisado ao porteiro noturno. Talvez acabassem nos expulsando do hotel. Melhor. Yvonne tinha vestido sua saída de praia e preparávamos uma
refeição para o cachorro (para isso tínhamos uma pilha inteira de latas de conserva e até um escalfador). Esperávamos que depois de ter comido, se calasse. Conseguindo
vencer a voz estridente do cantor, a mulher do industrial lionês berrava: "Mas faça alguma coisa, Henri, faça alguma coisa. TELEFONE PARA A POLÍCIA..."A varanda
deles justapunha-se à nossa. Tínhamos deixado a porta da sacada aberta e o industrial, cansado de bater na parede, insultava-nos de fora. Yvonne então tirava o
roupão e saía na varanda, completamente nua, depois de ter posto as longas luvas negras. O outro a fixava, afogueado. A mulher o puxava pelo braço. Ela gritava:
"Ah, nojentos... puta..." Nós éramos jovens.
E ricos. A gaveta da mesa-de-cabeceira dela transbordava de cédulas. De onde vinha aquele dinheiro? Eu não ousava perguntar. Um dia, como estava arrumando os maços
um ao lado do outro, para poder fechar a gaveta, ela me explicou que era o cachê do filme. Tinha exigido que lhe pagassem em espécie e em notas de cinco mil francos.
Acrescentou que tinha recebido o cheque da Taça Houligant. Mostrava um pacote, embrulhado em papel jornal: oitocentas notas de mil francos. Preferia as notas
pequenas.
Ela gentilmente se propôs a me emprestar dinheiro, mas declinei da oferta. Estavam ainda no fundo das minhas malas oitocentos ou novecentos mil francos. Aquela
quantia eu tinha ganho vendendo a um livreiro de Genebra duas edições "raras" compradas em Paris por uma bagatela, numa loja de trocas.
89
Troquei, na recepção, as notas de cinqüenta mil francos por outras de quinhentos francos, que transportei numa bolsa de praia. Virei tudo em cima da cama. Ela
juntou as notas dela, formando uma pilha impressionante. Ficávamos maravilhados com aquele volume de notas que não tardaríamos a gastar. E eu reencontrava nela
meu gosto pelo dinheiro vivo, quero dizer, dinheiro ganho facilmente, maços que forram os bolsos, dinheiro louco que escorre pelos dedos.
Depois que o artigo saiu, eu fazia perguntas sobre a infância dela naquela cidade. Ela evitava responder, sem dúvida porque queria permanecer mais misteriosa e tinha
um pouco de vergonha de sua origem "modesta" nos braços do "conde Chmara". E, como minha verdade a tinha decepcionado, eu lhe contava as aventuras de meus parentes.
Meu pai tinha deixado a Rússia muito novo, com a mãe e as irmãs, por causa da Revolução. Passaram algum tempo em Constantinopla, Berlim e Bruxelas antes de se
instalar em Paris. Minhas tias foram modelos de Schiaparelli para ganhar a vida como muitas russas belas, nobres e brancas. Meu pai, aos 25 anos, partiu de veleiro
para a América onde se casou com a herdeira das lojas Woolworth. Depois divorciou-se, obtendo colossal pensão alimentar. De volta à França, conheceu mamãe, artista
irlandesa do music-hall. Eu nasci. Todos dois desapareceram a bordo de um avião de turismo, para os lados do Cap-Ferrat, em julho de 49. Eu tinha sido educado
por minha avó, em Paris, num apartamento térreo da rua Lord-Byron. Era isso.
Ela acreditava em mim? Pela metade. Ela tinha necessidade, antes de dormir, que eu lhe contasse histórias "maravilhosas" cheias de gente famosa e artistas de cinema.
Quantas vezes lhe descrevi os amores de meu pai e da atriz Lupe Velez na vila em estilo espanhol em Beverly Hills? Mas quando eu queria que ela, por sua vez,
me falasse de sua família, me dizia: " Oh... não é interessante..." E era, no entanto, a única coisa que faltava em minha felicidade: o relato de uma infância
e de uma adolescência passadas numa cidade de província. Como lhe
explicar que, a meus olhos de apátrida, Hollywood, os príncipes russos e o Egito de Faruk pareciam sem brilho, desbotados, diante daquele ser exótico e quase
inacessível: uma francesinha?
90
91
Aconteceu uma noite, simplesmente. Ela me disse: "Vamos jantar na casa de meu tio". Estávamos lendo revistas na varanda e a capa de uma delas - lembro-me - mostrava
a atriz de cinema inglesa, Belinda Lee, que tinha morrido num acidente de automóvel.
Vesti de novo meu terno de flanela e como o colarinho de minha única camisa branca estava completamente puído, enfiei uma pólo branca surrada que combinava com
minha gravata do International Bar Fly, azul e vermelha. Tive muito trabalho para dar nó nela porque a gola da pólo era mole demais, mas queria estar com a aparência
cuidada. Enfeitei meu casaco de flanela com um lenço de bolso azul-noite que tinha comprado por causa da cor profunda. Como calçado, hesitava entre os mocassins,
aos frangalhos, alpargatas ou uns Weston quase novos, mas com solas grossas de crepe. Optei por eles, julgando-os mais dignos. Yvonne me suplicou que eu pusesse
o monóculo: aquilo intrigaria o tio dela e ele me acharia "engraçado'. Mas eu justamente não queria isso de jeito nenhum. Desejava que aquele homem me visse como
eu era de verdade: um rapaz modesto e sereno.
Ela escolheu um vestido de seda branco e o turbante rosa fúcsia que tinha usado no dia da Taça Houligant. Maquiou-se
92
mais demoradamente do que de hábito. Seu batom era da mesma cor que o turbante. Enfiou as luvas, que subiam até a metade do braço, e eu achei aquilo curioso, para
ir jantar na casa do tio. Saímos, com o cachorro.
No saguão do hotel, algumas pessoas se espantaram com a nossa passagem. O cachorro ia à frente, desenhando seus movimentos de quadrilha. Aquilo acontecia quando
saíamos com ele em horas a que não estava habituado. Tomamos o funicular.
Seguimos a rua do Parmelan que prolonga a rua Royale. À medida que avançávamos, eu descobria uma outra cidade. Deixávamos para trás tudo aquilo que faz o encanto
artificial de uma estação termal, todo aquele pobre cenário de opereta onde um velhíssimo paxá egípcio no exílio acaba dormindo de tristeza. Lojas de alimentos
e de motocicletas substituíam as butiques de luxo. Sim, era curioso o número de lojas de motocicletas. Às vezes havia duas, uma ao lado da outra e, em exposição
na calçada, diversas Vespas de segunda mão. Passamos a estação da estrada. Um ônibus aguardava, com o motor ligado. No flanco, levava o nome da empresa e as etapas:
Sevrier-PringyAlbertville. Chegamos à esquina da rua do Parmelan e da avenida Maréchal-Leclerc. Essa avenida se chamava "MaréchalLeclerc" num pequeno trecho, pois
tratava-se da Nacional 201, que ia para Chambéry. Era ladeada de plátanos.
O cão tinha medo e andava o mais distante possível da estrada. O ambiente do Hermitage convinha melhor a sua silhueta lassa e sua presença na periferia despertava
curiosidade. Yvonne não dizia nada, mas o bairro lhe era familiar. Durante anos e anos fez com certeza o mesmo caminho, de volta da escola ou uma surprise party
na cidade (a expressão surpriseparty não convém. Ela ia ao "baile" ou ao "dancing"). E eu já tinha esquecido o saguão do Hermitage; ignorava aonde íamos, mas aceitava
antecipadamente viver com ela, na Nacional 201. Os vidros de nosso quarto tremiam à passagem dos caminhões
93
pesados, como aquele pequeno apartamento do bulevar Soult onde morei uns meses na companhia de meu pai. Eu me sentia leve. Só os sapatos novos me incomodavam um
pouco no calcanhar.
A noite tinha caído e, de cada lado, residências de dois ou três andares montavam guarda, pequenos prédios pintados de branco e com charme colonial. Prédios assim
existiam no bairro europeu em Túnis e até em Saigon. De espaço a espaço, uma casa em forma de castelo no meio de um jardim minúsculo me lembrava que nos encontrávamos
em Haute-Savoie.
Passamos na frente de uma igreja de tijolo e perguntei a Yvonne como se chamava: São Cristóvão. Gostaria que ela tivesse feito a primeira comunhão ali, mas não
fiz a pergunta, por temor de me decepcionar. Um pouco mais longe, o cinema se chamava Splendid. Com sua fachada bege sujo e portas vermelhas com vigias, parecia-se
com todos os cinemas que se encontra no subúrbio, quando se atravessa as avenidas Maréchalde-Lattre-de-Tassigny, Jean-Jaurès ou Maréchal-Leclerc, bem antes de
se entrar em Paris. Ali também, ela devia ir aos 16 anos. O Splendid mostrava naquela noite um filme da nossa infância: O prisioneiro de Zenda, e imaginei que
estávamos na bilheteria comprando dois ingressos para o balcão. Eu a conhecia por todo o sempre, aquela sala, via suas poltronas de espaldar de madeira e o painel
dos anúncios locais diante da tela: Jean Chermoz, florista, rua Sommeiller, 22. LAV NET, rua do Président-Favre, 17. Decouz, Rádios, TV, Hi-Fi, avenida de Allery,
23... Os cafés se sucediam. Por trás dos vidros do último, quatro rapazes com ondas nos cabelos jogavam totó. Mesas verdes estavam arrumadas ao ar livre. Os clientes
que ali se encontravam examinaram o cachorro com interesse. Yvonne tinha tirado as luvas compridas. Em suma, reencontrava seu ambiente natural e podia-se imaginar
que tinha posto o vestido de seda branco que usava para ir a uma festa nas vizinhanças ou a um baile de 14 de julho.
Ladeamos por quase cem metros uma cerca de madeira
94
escura. Cartazes de todo tipo estavam colados nela. Cartazes do cinema Splendid. Cartazes anunciando a festa da paróquia e a vinda do circo Pinder. Cabeça rasgada
pela metade de Luis Mariano. Antigas inscrições pouco legíveis: Libertem Henri Martin.. . Ridgway go honre... Argélia francesa... Corações partidos por uma flecha
com iniciais. Tinham instalado naquele local postes modernos de cimento, ligeiramente encurvados. Eles projetavam na cerca a sombra dos plátanos e suas folhagens
que sussurravam. Uma noite muito quente. Tirei o casaco. Estávamos diante da entrada de uma imponente garagem. À direita, numa pequena porta lateral, uma placa onde
estava gravado, em letras góticas: Jacquet. E um painel, onde li: "Peças avulsas para veículos americanos".
Ele nos esperava no cômodo do térreo que devia servir ao mesmo tempo de salão e sala de jantar. As duas janelas e a porta envidraçada davam para a garagem, um
imenso hangar.
Yvonne me apresentou indicando meu título nobre. Sentime incomodado, mas fiz parecer que achava aquilo perfeitamente natural. Ele virou-se para ela e perguntou,
num tom rabugento:
- Será que o conde gosta de escalope empanado? - Tinha um sotaque parisiense muito acentuado. - Porque fiz escalope para vocês.
Mantinha, ao falar, o cigarro, ou melhor, seu resto, no canto da boca e franzia os olhos. Sua voz era muito grave, enrouquecida, voz de alcoólatra ou de fumante
inveterado.
- Sentem-se... Ele nos apontou um sofá azulado junto à parede. Depois deu uns passinhos balanceados até à peça contígua: a cozinha. Ouviu-se o ruído de uma frigideira.
Retornou trazendo uma bandeja, que pôs sobre o braço do sofá. Três copos e um prato cheio daqueles biscoitos que chamam de línguas-de-gato. Estendeu os copos, a
Yvonne e a mim. Um líquido vagamente rosado. Sorriu para mim:
- Prove. Um coquetel do barril de Deus. Dinamite. Isso se chama... Dama Rosa... Prove...
95
Umedeci os lábios nele. Engoli uma gota. Logo tossi. Yvonne caiu na gargalhada.
- Você não devia dar isso a ele, titio Roland... Eu estava emocionado e surpreso de ouvi-la dizer titio Roland.
- Dinamite, hein? - disse ele, os olhos brilhando, quase arregalados.
- Tem que se acostumar. Ele se sentou na poltrona, estofada com o mesmo tecido azulado e gasto do sofá. Acariciava o cão, que dormitava a sua frente, e bebia
um gole de seu coquetel.
- Tudo bem? - perguntou ele a Yvonne. - Tudo. Ele balançou a cabeça. Não sabia mais o que dizer. Talvez não quisesse falar diante de alguém que acabava de conhecer.
Esperava que eu desse início à conversa, mas eu estava ainda mais intimidado do que ele e Yvonne nada fazia para desanuviar o mal-estar. Pelo contrário, tirou as
luvas da bolsa e as enfiava lentamente. Ele acompanhava com um olhar de viés aquela operação bizarra e interminável, com a boca um pouco amuada. Houve longos minutos
de silêncio.
Eu o observava às escondidas. O cabelo era castanho e espesso, a pele vermelha, mas grandes olhos negros e cílios muito longos davam àquele rosto pesado algo de
charmoso e lânguido. Devia ter sido bonito na juventude, de uma beleza um tanto rechonchuda. Os lábios, ao contrário, eram finos, espirituais, bem franceses.
Via-se que tinha cuidado da toalete para nos receber. Paletó de tweed cinza muito largo na altura dos ombros; camisa escura sem gravata. Perfume de lavanda. Eu
tentava encontrar nele algum traço de parentesco com Yvonne. Sem sucesso. Mas achava que conseguiria até o final da noite. Eu me poria à frente deles e os espiaria
simultaneamente. Acabaria percebendo algum gesto ou expressão que lhes fosse comum.
- E então, tio Roland, anda trabalhando muito? Ela fez essa pergunta num tom que me surpreendeu. Nele
96
se mesclavam uma ingenuidade infantil e a brusquidão que uma mulher pode ter para com o homem com quem ela vive.
- Oh, sim... essas porcarias de "americanos"... todos esses Studebaker de merda...
- Não têm graça, hein, titio Roland? Dessa vez, poder-se-ia dizer que falava com uma criança. -Não. Principalmente porque nos motores dessas porcarias de Studebaker...
Deixou a frase em suspenso, como se de repente se desse conta de que esses detalhes técnicos poderiam não nos interessar.
- Pois é... E você, tudo bem? - ele perguntou a Yvonne. - Tudo bem?
- Tudo, titio. Ela pensava em outra coisa. Em quê? - Perfeito. Se está, está... E se passássemos para a mesa? Ele tinha se levantado e pousava a mão em meu ombro.
- Ei, Yvonne, está me ouvindo? A mesa estava posta de encontro à porta envidraçada e às janelas que davam para a garagem. Uma toalha de quadrados azul-marinho
e brancos. Copos Duralex. Ele me apontou um lugar: o que eu tinha previsto. Eu estava de frente para eles. No prato de Yvonne e no dele, prendedores de guardanapo
de madeira, com seus nomes, "Roland" e "Yvonne", gravados em letras redondas.
Ele se dirigiu, em seu passo ligeiramente balanceado, para a cozinha e Yvonne aproveitou para me arranhar a palma da mão com a unha. Ele nos trouxe um prato de
salada "niçoise". Yvonne nos serviu.
- O senhor gosta, espero? E depois, dirigindo-se a Yvonne e separando as sílabas: - O con-de gos-ta mes-mo? Não discerni naquilo maldade alguma, mas uma ironia
e uma gentileza bem parisienses. Aliás, eu não entendia por que aquele "saboiano" (eu recordava a frase do artigo que dizia respeito a Yvonne: "Sua família é originária
da região") tinha o sotaque arrastado de Belleville.
97
Não, decididamente, não se pareciam. O tio não tinha a fineza dos traços, as mãos longas e o pescoço delicado de Yvonne. Ao lado dela, parecia mais massudo e taurino
do que quando estava sentado na poltrona. Eu bem que gostaria de saber de onde ela tinha tirado seus olhos verdes e seus cabelos ruivos, mas o infinito respeito
que tenho pelas famílias francesas e seus segredos me impedia de fazer perguntas. Onde estavam o pai e a mãe de Yvonne? Ainda viviam? O que faziam? Continuando
a observá-los com discrição encontrei, no entanto, em Yvonne e em seu tio os mesmos gestos. Por exemplo, o mesmo modo de segurar o garfo e a faca, o indicador um
tanto para a frente, a mesma lentidão para levar o garfo à boca e, por instantes, os mesmos olhos franzidos que lhes dava, a um e outro, pequenas rugas.
- E o senhor, o que faz na vida? - Ele não faz nada, titio. Ela não me deixou tempo para responder. - Não é verdade, senhor balbuciei. Não. Trabalho com... livros.
- ... Livros? Livros? Ele me olhava. O olho incrivelmente vazio. - Eu... Eu... Yvonne me encarava com um sorrisinho insolente. - Eu... eu estou escrevendo um
livro. É isso. Eu estava impressionado com o tom peremptório com que proferi essa mentira.
- O senhor está escrevendo um livro?... Um livro?... - Ele franzia as sobrancelhas e se inclinava um pouco mais em minha direção. - Um livro... policial?
Tinha uma aparência de alívio. Sorria. - Sim, um livro policial - murmurei -, um policial.
Um pêndulo soou na peça vizinha. Carrilhão rasgado, interminável. Yvonne escutava, com a boca entreaberta. O tio me
98
espiava, ele tinha vergonha daquela música intempestiva e degringolada que eu não conseguia identificar. E depois, bastou ele dizer: " O puto do Westminster ainda",
para que eu reconhecesse naquela cacofonia o carrilhão londrino, porém mais melancólico e mais inquietante do que o verdadeiro.
- Esse puto do Westminster ficou completamente louco. Soam as 12 badaladas a toda hora... Vou ficar doente com esse Westminster nojento... Se eu tivesse...
Falava dele como se fosse um inimigo pessoal e invisível.
- Está me escutando, Yvonne? - Mas eu lhe disse que pertencia à mamãe... Basta você me dar ele e não se fala mais disso...
Ele estava muito vermelho, de repente, e temi um acesso de cólera.
- Ele vai ficar aqui, está escutando... Aqui... - Está bem, titio, está bem... - Ela sacudiu os ombros. - Fique com ele, com seu pêndulo... o seu Westminster miniatura...
Virou-se para mim e piscou o olho. Ele, por sua vez, quis me fazer de testemunha.
- O senhor entende. Vai me ficar um vazio se eu não escutar mais essa porcaria de Westminster...
- Ele me lembra a infância - disse Yvonne -, não me deixava dormir...
E a visualizei na cama dela, apertando um urso de pelúcia com os olhos grandes abertos.
Ainda escutamos cinco notas em intervalos irregulares, com os soluços de um bêbado. Depois o Westminster calou-se, dir-se-ia que para sempre.
Respirei profundamente e me virei para o tio: - Ela morava aqui quando era pequena? Pronunciei a frase de uma maneira tão precipitada que ele não entendeu.
- Ele está perguntando se eu morava aqui quando era pequena. Está surdo, titio?
99
- Morava, claro. Lá em cima.
Mostrava o teto com o indicador.
- Vou lhe mostrar meu quarto daqui a pouco. Se ainda existir, hein titio?
- Mas é claro. Não mudei nada. Ele se levantou, pegou nossos pratos e talheres e foi para a cozinha. Voltou com pratos limpos e outros talheres.
- O senhor prefere bem passado? - perguntou.
- Como quiser. - Não. Como o senhor quiser, O SENHOR, conde. Enrubesci.
- Então, decida-se, bem passado ou malpassado? Eu já não conseguia pronunciar a mínima sílaba. Fiz um gesto vago com a mão, para ganhar tempo. Ele estava plantado
a minha frente, de braços cruzados. Examinava-me com uma espécie de estupefação.
- Diga aí, ele é sempre assim? - Sim, titio, sempre. Ele é sempre assim. Ele mesmo nos serviu escalopes e ervilha, especificando que se tratava de "ervilha fresca,
e não conserva". Serviu de beber também, mercurey, um vinho que ele só comprava para convidados "de classe".
- Então acha que é um convidado "de classe"? - perguntou-lhe Yvonne me designando.
- Mas é claro. É a primeira vez na minha vida que janto com um conde. O senhor é conde quem mesmo?
- Chmara - respondeu secamente Yvonne, como se estivesse aborrecida com ele por ter esquecido.
- É o quê esse Chmara? Português?
- Russo - gaguejei. Ele queria saber mais. - Por quê? O senhor é russo? Um cansaço infinito me tomou. Seria preciso de novo contar a Revolução, Berlim, Paris,
Schiaparelli, a América, a herdeira das lojas Woolworth, a avó da rua Lord-Byron... Não. Tive um enjôo.
100
- Está se sentindo mal? Ele pousou a mão em meu braço; era paternal. - Oh, não... Há muito tempo não me sinto tão bem... Pareceu espantado com essa declaração,
ainda por cima pelo fato de que pela primeira vez na noite eu tinha falado claramente.
- Vamos, tome um gole de mercurey...
- Você sabe, titio, você sabe... (ela fazia uma pausa e eu me aprumava, sabendo que o raio ia cair sobre mim) você sabe que ele usa monóculo?
- Ah, é? Não. - Põe o monóculo para mostrar a ele. Ela fez uma voz travessa. Repetiu com uma cantilena: "Põe o monóculo... põe o monóculo..."
Apalpei com a mão trêmula o bolso do paletó e, com lentidão de sonâmbulo, ergui o monóculo até o olho esquerdo. E tentei colocá-lo, mas os músculos não obedeciam
mais. Na terceira tentativa, o monóculo caiu. Eu sentia uma anquilose na altura da bochecha. Da última vez, ele caiu sobre a ervilha.
- Mas que merda - resmunguei. Eu começava a perder meu sangue frio e tinha medo de proferir uma dessas coisas terríveis que ninguém espera de um rapaz como eu.
Mas nada posso fazer, é um acesso que me dá.
- Quer experimentar? - perguntei ao tio, estendendolhe o monóculo.
Ele conseguiu na primeira tentativa, felicitei-o calorosamente. Ficava bem nele. Ele lembrava Conrad Veidt em Nocturno der Liebe. Yvonne morreu de rir. E eu também.
E o tio. Não conseguíamos mais parar.
- Tem de voltar - ele declarou. - Divertimo-nos muito os três. O senhor é muito engraçado.
- Isso é verdade - aprovou Yvonne. - O senhor também, o senhor é "engraçado" - disse eu. Eu quis acrescentar: reconfortante, porque sua presença, sua maneira
de falar, seus gestos me protegiam. Naquela sala
101
de jantar, entre Yvonne e ele, eu não tinha nada a temer. Nada. Eu era invulnerável.
- O senhor trabalha muito? - arrisquei. Ele acendeu um cigarro. - Oh, sim. Tenho que manter tudo isso sozinho... Fez um gesto na direção do hangar, por trás das
janelas. - Há muito tempo? Ele me estendia seu maço de Royales. - Começamos com o pai da Yvonne... Estava aparentemente espantado e tocado por minha atenção
e curiosidade. Não deviam lhe fazer freqüentemente perguntas sobre ele e seu trabalho. Yvonne tinha virado a cabeça e estendia um pedaço de carne ao cachorro.
- Compramos isso da empresa de aviação Farman... Tornamo-nos concessionários da Hotchkiss para toda a região... Trabalhávamos com a Suíça no caso dos carros de
luxo...
Emitia as frases muito depressa e quase à meia-voz, como se temesse que alguém o fosse interromper, mas Yvonne não prestava a menor atenção nele. Falava com o
cachorro e o acariciava.
- Ia bem, com o pai dela... Ele tragava o cigarro, que segurava entre o polegar e o indicador.
- Isso lhe interessa? É tudo passado, tudo... - O que está contando a ele, titio? - Do início da garagem com seu pai... - Mas o está aborrecendo... Havia uma
ponta de maldade na voz dela. - De modo algum - disse eu. - De modo algum. O que aconteceu com seu pai?
Essa pergunta me tinha escapado e eu não podia mais voltar a máquina atrás. Um aborrecimento. Notei que Yvonne franziu as sobrancelhas.
- Albert... Ao pronunciar esse nome, o tio fez um olhar ausente. Depois bufou.
102
- Albert teve uns problemas... Compreendi que não ficaria sabendo de mais nada por ele e me surpreendi por ele já me ter confiado tantas coisas.
- E você? - Ele apoiava a mão contra o ombro de Yvonne. - As coisas estão indo como você quer?
- Estão. A conversa ia atolar. Então, decidi partir para o ataque. - O senhor sabe que ela vai se tornar uma atriz de cinema?
- O senhor acredita mesmo? - Tenho certeza. Ela me soprava com gentileza a fumaça do cigarro no rosto.
- Quando ela me disse que ia fazer um filme, não acreditei. Então é verdade... Você terminou seu filme?
- Terminei, titio. - Quando poderemos vê-lo? - Vai sair dentro de três ou quatro meses - declarei.
- Vai passar aqui? Ele estava cético. - Com certeza. No cinema do Casino - eu falava num tom cada vez mais firme. - O senhor vai ver.
- Então, teremos que comemorar... Diga-me... Acha que é de fato uma profissão?
- Mas é claro. Além disso, ela vai continuar. Vai fazer outro filme.
Eu mesmo estava espantado com a veemência de minha afirmação.
- E vai tornar-se uma estrela de cinema, senhor. - Verdade? - Mas é claro, senhor. Pergunte a ela. - É verdade, Yvonne? Sua voz estava um tanto zombeteira.
- Sim, tudo o que Victor diz é verdade, titio. - O senhor vai ver que tenho razão.
103
Dessa vez, eu usava um tom adocicado, parlamentar, e tinha vergonha disso, mas aquele assunto me era muito caro e para falar dele eu buscava, por todos os meios,
vencer minhas dificuldades de elocução.
- Yvonne tem um enorme talento, acredite. Ela acariciava o cão. Ele me observava, seu resto de Royale no canto dos lábios. De novo, aquela sombra de inquietude,
aquele olhar absorto.
- O senhor acha mesmo que é uma profissão? - A mais bela profissão do mundo, senhor. - Muito bem, espero que você chegue lá - disse ele gravemente a Yvonne. -
Afinal de contas, você não é mais burra do que outra...
- Victor me dará bons conselhos, hein, Victor? Ela me dirigia um olhar terno e irônico. - O senhor soube que ela ganhou a Taça Houligant? - perguntei ao tio.
- Hein?
- Para mim foi uma surpresa, quando li no jornal. - Ele hesitou um instante. - Diga-me, é importante essa Taça Houligant?
Yvonne escarneceu. - Pode servir de trampolim - declarei, limpando meu monóculo.
Ele nos propôs bebermos o café. Sentei-me no velho sofá azulado enquanto Yvonne e ele tiravam a mesa. Yvonne cantarolava transportando os pratos e talheres para
a cozinha. Ele fazia correr a água. O cachorro tinha adormecido a meus pés. Revejo essa sala de jantar com precisão. O papel da parede tinha três motivos: rosas
vermelhas, hera e passarinhos (não sei dizer se eram melros ou pardais). Papel de parede um tanto desbotado, bege ou branco. O lustre circular era de madeira e
munido de uma dezena de lâmpadas com abajur em pergaminho. Luz de âmbar, quente. Na parede um quadrinho sem moldura representava um bosque e admirei a maneira como
o pintor tinha recortado as árvores sobre um céu claro de crepúsculo
104
e a mancha de sol que se demorava ao pé de uma árvore. Esse quadro contribuía para tornar a atmosfera do cômodo mais pacífica. O tio, por um fenômeno de contágio,
que nos faz, quando se escuta uma melodia conhecida, cantá-la também, cantarolava junto com Yvonne. Eu me sentia bem. Gostaria que a noite se prolongasse indefinidamente
para que eu pudesse observar durante horas as idas e vindas deles, os gestos graciosos de Yvonne e seu andar indolente, e o do tio, balanceado. E ouvilos murmurar
o refrão da canção, que eu mesmo não ouso repetir, porque me lembraria o instante tão precioso que vivi.
Ele veio sentar-se no sofá, a meu lado. Buscando continuar a conversa, mostrei-lhe o quadro:
- Muito bonito... - Foi o pai da Yvonne que fez... sim... Aquele quadro devia estar no mesmo lugar há muitos anos, mas ele ainda se maravilhava com a idéia de
que o irmão era o autor.
- Albert tinha uma bela pincelada... O senhor pode ver a assinatura embaixo, à direita: Albert Jacquet. Era um sujeito estranho, meu irmão...
Eu ia formular uma pergunta indiscreta, mas Yvonne saía da cozinha trazendo a bandeja do café. Ela sorria. O cão se espreguiçava. O tio tossia com a ponta do cigarro
na boca. Yvonne se enfiou entre mim e o braço do sofá e pousou a cabeça contra meu ombro. O tio servia o café limpando a garganta e dir-se-ia que rugia. Ele estendia
um açúcar ao cão, que o pegava delicadamente entre os dentes, e eu já sabia que ele não partiria o torrão de açúcar, mas o chuparia, os olhos perdidos no vazio.
Ele jamais mastigava a comida.
Eu não tinha notado uma mesa atrás do sofá, sobre a qual havia um aparelho de rádio de tamanho médio e de cor branca, um modelo a meio caminho entre o aparelho
clássico e o transistor. O tio virou o botão e logo uma música tocou em surdina. Bebíamos, cada um, nosso café, em pequenos goles. O tio de vez em quando apoiava
a nuca contra o espaldar do sofá e fazia
105
argolas de fumaça. Fazia-as bem. Yvonne escutava a música e marcava o compasso com o indicador preguiçoso. Ficamos lá, sem nos dizer nada, como gente que se conhece
desde sempre, três pessoas da mesma família,
- Você devia mostrar a casa para ele - murmurou o tio. Ele tinha fechado os olhos. Levantamo-nos, Yvonne e eu. O cão nos lançou um olhar sorrateiro, levantou-se,
por sua vez, e nos seguiu. Encontrávamo-nos à entrada, ao pé da escada, quando o Westminster soou outra vez, mas de modo mais incoerente e brutal do que da primeira,
tanto que me veio ao espírito a imagem de um pianista doido dando socos e cabeçadas no teclado. O cachorro, aterrorizado, galgou a escadaria e ficou nos esperando
lá em cima. Uma lâmpada pendia do teto e lançava uma luz amarela e fria. O rosto de Yvonne parecia ainda mais pálido em função do turbante rosa e do batom. E eu,
debaixo daquela luz, senti-me inundado de pó de chumbo. A direita, um armário com espelho. Yvonne abriu a porta a nossa frente. Um quarto cuja janela dava para
a Nacional, pois ouvi o barulho abafado de diversos caminhões que passavam.
Ela acendeu a lâmpada de cabeceira. A cama era muito estreita. Aliás, restava apenas o colchão. Em torno dele corria uma prateleira e o conjunto formava um cosy
comer. No canto esquerdo, uma pia minúscula encimada por um espelho. Contra a parede um armário de madeira branco. Ela sentou-se na beira do colchão e me disse:
- Este era meu quarto. O cachorro tinha se instalado no meio de um tapete tão gasto que já não se distinguiam seus motivos. Levantou-se ao cabo de um instante
e saiu do quarto. Eu escrutinei as paredes, inspecionei as prateleiras, esperando descobrir um vestígio da infância de Yvonne. Fazia muito mais calor do que nas
outras peças e ela tirou o vestido. Deitou-se atravessada no colchão. Estava usando ligas, meias, sutiã, tudo aquilo com que as mulheres ainda se estorvavam. Abri
o armário de madeira branca. Talvez houvesse algo lá dentro.
106
- O que está procurando? perguntou ela, apoiando-se nos cotovelos.
Ela franzia os olhos. Reparei numa pequena pasta no fundo da prateleira. Peguei-a e me sentei no chão com as costas apoiadas no colchão. Ela pousou o queixo no
oco de meu ombro e me soprou no pescoço. Eu abri a pasta, enfiei a mão lá dentro e trouxe um velho lápis pela metade que terminava numa borracha cinzenta. O interior
da pasta soltava um odor repulsivo de couro e também de cera - parecia. Numa primeira noite de férias longas, Yvonne a tinha fechado definitivamente.
Ela apagou a luz. Por que cargas d'água estava eu ao lado dela, sobre aquele colchão, naquele quartinho desativado?
Quanto tempo ficamos lá? Impossível confiar no carrilhão cada vez mais louco de Westminster que tocou três vezes à meianoite com alguns minutos de intervalo. Eu
me levantei e na meia penumbra vi que Yvonne se virava para o lado da parede. Talvez estivesse com vontade de dormir. O cão se encontrava no patamar da escada,
em posição de esfinge, na frente do espelho do armário. Ali se contemplava num tédio soberano. Quando passei, não se moveu. Tinha o pescoço muito reto, a cabeça
ligeiramente erguida, as orelhas em pé. Quando cheguei ao meio da escada, ouvi-o bocejar. E sempre aquela luz fria e amarela que descia da lâmpada e me entorpecia.
Pela porta entreaberta da sala de jantar, saía uma música límpida e gelada, dessas que muitas vezes se escuta no rádio, à noite, e que faz pensar num aeroporto
deserto. O tio escutava, sentado na poltrona. Quando entrei, virou a cabeça em minha direção:
- Tudo bem? - E o senhor? - Comigo, tudo bem - ele respondeu. - E o senhor? - Tudo bem. - Podemos continuar, se quiser... Tudo bem? Ele olhava para mim, com
o sorriso congelado, o olho
107
pesado, como se estivesse diante de um fotógrafo que fosse tirar seu retrato.
Estendeu-me o maço de Royale. Risquei quatro fósforos sem sucesso. Enfim, consegui uma chama que aproximei cuidadosamente da ponta do cigarro. E traguei. Tinha
a impressão de fumar pela primeira vez. Ele me espiava, de sobrancelhas franzidas.
- O senhor não é um trabalhador manual - constatou, muito sério.
- Lamento. - Mas por que, meu velho? Acha que é divertido mexer com motor?
Ele olhava as mãos. - Às vezes, deve dar satisfações - disse eu. - Ah, sim? O senhor acha? - Afinal, é uma bela invenção, o automóvel... Mas ele já não me escutava.
A música acabou e o locutor - tinha entonações ao mesmo tempo inglesas e suíças e eu me perguntava qual era sua nacionalidade - pronunciou essa frase, que me ocorre
ainda, depois de tantos anos, repetir em voz alta quando estou sozinho, passeando: "Senhoras e senhores, termina a emissão da Genève-Musique. Até amanhã. Boa noite."
O tio não fez qualquer gesto para virar o botão do aparelho e como eu não ousava intervir, escutava um chiado contínuo, um ruído de parasitas que terminava se
assemelhando ao barulho do vento nas folhagens. E a sala de jantar era invadida por algo fresco e verde.
- É uma boa menina, Yvonne. Ele soltou uma argola de fumaça bastante bem-feita. - É muito mais que uma boa menina respondi. Ele me fixou diretamente os olhos.
com interesse, como se eu acabasse de dizer algo fundamental.
- E se andássemos um pouco? - propôs. - Minhas pernas estão formigando. Levantou-se e abriu a porta da sacada. - Não tem medo?
Mostrava-me com a mão o hangar, cujos contornos se diluíam na escuridão. Distinguia-se, a intervalos regulares, o pequeno luar de uma lâmpada.
- Assim, o senhor vai visitar a garagem... Mal pus o pé na borda daquele imenso espaço negro, senti um cheiro de essência, cheiro que sempre me emocionou - sem
que eu consiga saber por que razões exatas - cheiro tão doce de se respirar quanto o do éter e do papel prateado que envolveu um tablete de chocolate. Ele tinha
me segurado o braço e andávamos por zonas cada vez mais escuras.
- Sim, Yvonne é uma menina estranha... Ele queria puxar conversa. Girava em torno de um assunto que lhe era caro e que com certeza não tinha abordado com muita
gente. Afinal de contas, talvez o estivesse abordando pela primeira vez.
- Estranha, mas muito atraente - disse eu. E em meu esforço para pronunciar uma frase inteligível, meu timbre estava um tanto alto, uma voz de falsete de uma
afetação inaudita.
- Veja o senhor... - Ele hesitava uma última vez antes de se abrir, apertava meu braço. - Ela lembra muito o pai... Meu irmão era um porra-louca...
Avançamos em linha reta. Eu me acostumava pouco a pouco com a escuridão que uma lâmpada furava a cada vinte metros mais ou menos.
- Ela me deu muita preocupação, Yvonne. Ele acendeu um cigarro. De repente, não o via mais, e como tinha me largado o braço, eu me guiava pela ponta incandescente
de seu cigarro. Ele acelerou o passo e tive medo de perdê-lo.
- Digo-lhe isso porque você tem um jeito bem-educado...
Eu dava uma tossidinha. Não sabia o que responder. - O senhor é de boa família, o senhor... - Oh, não... - eu disse.
109
Ele andava a minha frente e eu seguia com o olhar a ponta vermelha do cigarro. Nenhuma lâmpada nas redondezas. Eu estendia os braços à frente, para não dar de
encontro a uma parede.
- Esta é a primeira vez que Yvonne encontra um moço de boa família...
Riso breve. Numa voz muito surda: - Hein, companheiro? Ele me apertou o braço com muita força, à altura do bíceps. Estava à minha frente. Eu via de novo a ponta
fosforescente do cigarro. Não nos mexíamos.
- Ela já fez tanta bobagem... Ele suspirou. - E agora, com essa história de cinema...
Eu não o via, mas raramente tinha sentido num ser tanta prostração e resignação.
- De nada adianta chamá-la à razão... É como o pai... Como Albert.
Puxou-me pelo braço e retomamos a caminhada. Apertava-me o bíceps cada vez com mais força.
- Estou lhe falando disso tudo porque o acho simpático... e bem-educado...
O ruído de nossos passos ressoava por toda aquela extensão. Não entendi como ele conseguia se orientar no escuro. Se me faltasse, não haveria a menor possibilidade
de eu encontrar o caminho.
- E se voltássemos para casa? eu disse. - O senhor veja, Yvonne sempre quis viver acima dos seus meios... E é perigoso... muito perigoso...
Tinha me soltado o bíceps e, para não perdê-lo, eu apertava entre os dedos a aba de seu paletó. Ele não se incomodava.
- Aos 16 anos se virava para comprar quilos de produtos de beleza...
Ele acelerava a marcha, mas eu continuava segurando a aba de seu paletó.
- Ela não queria freqüentar o pessoal do bairro... Preferia os veranistas do Sporting... Como o pai...
110
Três lâmpadas, uma ao lado da outra, acima de nossas cabeças, ofuscaram-me. Ele bifurcava para a esquerda e acariciava a parede com a ponta dos dedos. O ruído seco
de um interruptor. Uma luz muito forte a nossa volta: o hangar estava inteiramente iluminado por projetores fixos no teto. Parecia ainda mais vasto.
- Desculpe, meu amigo, mas só podíamos acender os projetores aqui...
Encontrávamo-nos no fundo do hangar. Alguns carros americanos alinhados um ao lado do outro, um velho ônibus Chausson com os pneus arrebentados. Eu observava,
à nossa esquerda, um ateliê envidraçado que parecia uma estufa e perto do qual estavam dispostos num quadrado caixotes de plantas verdes. Naquele espaço, tinham
jogado cascalho e a hera subia pelo muro. Havia até mesmo um caramanchão, uma mesa e cadeiras de jardim.
- O que acha da minha baiúca, hein, companheiro? Juntamos as cadeiras à mesa do jardim e nos sentamos um à frente do outro. Ele apoiava os dois cotovelos na mesa,
com o queixo nas palmas das mãos. Parecia exausto.
- É aqui que descanso quando estou cheio de mexer com motor... É o meu jardim...
Ele me apontava os carros americanos e depois o ônibus Chausson, atrás.
- Está vendo essas ferragens ambulantes? Fazia um gesto excessivo, como se caçasse uma mosca.
- É terrível não gostar mais do próprio ofício. Eu esboçava um sorriso incrédulo. - Vamos... - E o senhor, ainda gosta de sua profissão? - Sim - disse eu, sem
saber muito bem de que profissão se tratava.
- Na sua idade, se é cheio de entusiasmo... Ele me envolvia com um olhar terno que me comovia. - Cheio de entusiasmo - repetia à meia voz.
111
Ficamos lá, em torno da mesa do jardim, tão pequenos naquele hangar gigantesco. Os caixotes de plantas, a hera e o cascalho compunham um oásis imprevisto. Protegiam-nos
da desolação ambiente: o conjunto de automóveis na expectativa (um deles tinha uma aba a menos) e o ônibus que apodrecia ao fundo. A luz que os projetores difundiam
era fria, mas não amarela como na escada e no corredor que tínhamos atravessado Yvonne e eu. Não. Ela tinha algo de cinza-azulado, aquela luz. Cinza-azulado gelado.
- O senhor quer hortelã? É só o que tenho aqui... Dirigiu-se ao ateliê envidraçado e voltou com dois copos, a garrafa de menta e uma jarra d'água. Brindamos.
- Há dias, meu velho, em que me pergunto o que estou fazendo nessa garagem...
Decididamente, ele sentia necessidade de desabafar naquela noite.
- É grande demais para mim. Varria com o braço toda a extensão do hangar. - Em primeiro lugar, foi Albert que nos deixou... E depois minha mulher... E agora é
Yvonne...
- Mas ela vem sempre ver o senhor - adiantei. -Não. A senhorita quer fazer filmes... Pensa que é Martine Carol...
- Mas ela vai se tornar uma nova Martine Carol - respondi, numa voz firme.
- Vamos... Não diga bobagens... Ela é preguiçosa demais...
Um gole do refresco de hortelã tinha descido mal e ele se sentia estrangulado. Tossia. Não conseguia mais parar e estava ficando vermelho. Ia com certeza sufocar.
Eu lhe dava grandes tapas nas costas até que a tosse se acalmou. Ergueu para mim os olhos cheios de benevolência.
- Não vamos ficar de mau humor... hein, meu amigo? Sua voz estava mais pesada do que nunca. Completamente rouca. Eu só entendia uma em cada duas palavras, mas era
o suficiente para recuperar o resto.
112
- O senhor é um bom rapaz, meu amigo... E polido... O barulho de uma porta que fechavam bruscamente, barulho muito distante, mas que o eco repercutia. Vinha do
fundo do hangar. A porta da sala de jantar, lá embaixo, a uns cem metros de nós. Reconheci a silhueta de Yvonne, seus cabelos ruivos que lhe caíam até os quadris
quando não os penteava. De onde estávamos ela parecia pequena, uma liliputiana. O cão lhe chegava à altura do peito. Não esquecerei jamais a visão daquela menininha
e daquele molosso que andavam em nossa direção e retomavam aos poucos suas verdadeiras dimensões.
- Ei-la - constatou o tio. - Não vai contar para ela o que eu lhe disse, hein? Isso deve ficar entre nós.
- Mas é claro... Não tirávamos os olhos dela, à medida que ela atravessava o hangar. O cachorro vinha de batedor.
- Aparenta ser tão pequena - observei. - Sim, tão pequena - disse o tio. - É uma criança... difícil...
Ela nos percebia e agitava o braço. Gritava: Victor... Victor..., e o eco desse nome que não era o meu repercutia de um extremo a outro do hangar. Chegava perto
de nós e vinha sentar-se à mesa, entre o tio e eu. Estava um pouco esbaforida.
- Que gentil vir nos fazer companhia - disse o tio. - Quer hortelã? Fresca? Com gelo?
Ele nos servia outra vez um copo para cada um. Yvonne me sorria e como de hábito eu sentia uma espécie de vertigem.
- De quê vocês dois falavam? - Da vida - disse o tio. Ele acendeu um Royale e eu sabia que o manteria no canto da boca até que lhe queimasse os lábios.
- Ele é simpático, o conde... E muito bem-educado. - Oh, sim - disse Yvonne. - Victor é um tipo raro. - Repete - disse o tio. - Victor é um tipo raro. - Acham
mesmo? - perguntei, voltando-me para um e
113
para outro. Eu devia estar com uma expressão bizarra pois Yvonne me beliscou a bochecha e disse, como se quisesse me certificar:
- É sim, você é raro. O tio, por sua vez, encarecia. - Raro, meu velho, raro... O senhor é raro... - Muito bem... Fiquei nisso, mas ainda me lembro de que tinha
a intenção de dizer: "Muito bem, o senhor me concede a mão de sua sobrinha?" Era o momento ideal, penso ainda hoje, para pedi-la em casamento. Sim. Não continuei
minha frase. Ele recomeçou, numa voz cada vez mais áspera:
- Raro, meu velho, raro... raro... raro... O cão enfiou a cabeça no meio das plantas e nos observava. Uma nova vida poderia ter começado a partir daquela noite.
Não deveríamos jamais ter nos separado. Eu me sentia tão bem entre ela e ele, em volta da mesa do jardim, naquele grande hangar que com certeza destruíram depois.
114
XI
O tempo envolveu todas essas coisas num vapor de cores mutantes: ora verde pálido, ora azul ligeiramente rosado. Um vapor? Não, um véu impossível de rasgar que
abafa os ruídos e através do qual eu vejo Yvonne e Meinthe mas não os escuto mais. Temo que seus vultos acabem se esfumando e para ainda conservar deles um pouco
de realidade...
Embora Meinthe fosse poucos anos mais velho do que Yvonne, eles se conheceram muito cedo. O que os aproximou foi o tédio que sentiam os dois de viver naquela pequena
cidade e seus projetos para o futuro. Na primeira oportunidade, pensavam em deixar aquele "buraco" (uma das expressões de Meinthe) que só se animava nos meses
de verão durante a "estação". Meinthe, justamente, acabava de se associar a um barão belga miliardário hospedado no Grand Hôtel de Menthon. O barão logo se apaixonou
por ele e isso não me surpreende pois aos vinte anos Meinthe tinha um certo encanto físico e o dom de divertir as pessoas. O belga não vivia mais sem ele. Meinthe
lhe apresentou Yvonne como sendo sua "irmãzinha".
Foi esse barão quem os tirou do "buraco" e eles sempre falaram dele com uma afeição quase filial. Ele possuía uma grande vila em Cap-Ferrat e alugava permanentemente
uma suíte
115
no hotel do Palais de Biarritz e outra no Beau-Rivage de Genebra. A sua volta gravitava uma pequena corte de parasitas dos dois sexos, que os seguia em todos os
deslocamentos.
Meinthe muitas vezes imitou para mim o andar dele. O barão media cerca de dois metros e avançava a passos rápidos, com as costas muito curvadas. Tinha hábitos
curiosos: no verão, não queria se expor ao sol e ficava o dia todo na suíte do hotel do Palais ou no salão de sua vila do Cap-Ferrat. As vigias e cortinas ficavam
fechadas, a luz acesa e ele obrigava alguns efebos a lhe fazer companhia. Estes acabavam perdendo o belo bronzeado.
Ele tinha oscilações de humor e não suportava a contradição. De repente áspero. E no minuto seguinte, muito terno. Ele dizia a Meinthe, num suspiro: "No fundo,
sou a rainha Elizabeth da Bélgica... coitada, COITADA da rainha Elizabeth, você sabe... E você, acho que você compreende essa tragédia..." Em contato com ele,
Meinthe ficou conhecendo os nomes de todos os membros da família real belga e era capaz de rabiscar em alguns segundos sua árvore genealógica no canto de uma toalha
de papel. Muitas vezes o fez na minha frente porque sabia que me divertia.
Daí data também seu culto à rainha Astrid. O barão era um homem de cinqüenta anos na época. Tinha viajado muito e conhecido montes de pessoas interessantes e
refinadas. Freqüentemente visitava seu vizinho no Cap-Ferrat, o escritor inglês Somerset Maugham, de quem era amigo íntimo. Meinthe lembrava-se de um jantar em
companhia de Maugham. Um desconhecido, para ele.
Outras pessoas menos ilustres, mas "divertidas", freqüentavam assiduamente o barão, atraídas por seus caprichos faustosos. Tinha se formado um bando cujos membros
viviam férias eternas. Naquela época, descia-se da vila do Cap-Ferrat a bordo de cinco ou seis automóveis conversíveis. Ia-se dançar em Juan-les-Pins ou participar
dos "Toros de Fuego" de SaintJean-de-Luz.
116
Yvonne e Meinthe eram os mais novos. Ela mal tinha 16 anos e ele vinte. Gostavam muito deles.
Eu pedi a eles que me mostrassem fotografias, mas nem um nem o outro - era o que diziam - tinham guardado. Além disso, não falavam espontaneamente desse período.
O barão morreu em circunstâncias misteriosas. Suicídio? Acidente de automóvel? Meinthe tinha alugado um apartamento em Genebra. Yvonne morava lá. Mais tarde, ela
começou a trabalhar, na qualidade de modelo, para uma casa de costura milanesa, mas não me deu detalhes a respeito. Meinthe freqüentou nesse intervalo a faculdade
de medicina? Ele me afirmou muitas vezes "que exercia a medicina em Genebra" e toda vez eu tinha vontade de perguntar: que medicina? Yvonne evoluía entre Roma,
Milão e a Suíça. Ela era o que se chamava de modelo volante. Pelo menos foi o que me disse. Tinha conhecido Madeja em Roma, em Milão ou no tempo do bando do barão?
Quando lhe perguntava de que maneira tinham se conhecido e por que acaso ele a havia escolhido para trabalhar no Liebesbriefe auf dem Berg, ela se esquivava da
minha pergunta.
Nem ela nem Meinthe jamais me contaram sua vida em detalhe, mas indicações vagas e contraditórias.
Acabei identificando o barão belga que os tirou da província e os levou para a Côte d'Azur e para Biarritz (eles se recusavam a me dizer o nome dele. Pudor? Vontade
de embaralhar as cartas?). Um dia, procurarei todas as pessoas que faziam parte de seu "bando" e talvez haja uma que se lembre de Yvonne... Irei a Genebra, a
Milão. Conseguirei achar as peças do quebracabeça incompleto que me deixaram?
Quando os conheci, era o primeiro verão que passavam em sua cidade natal há bastante tempo e depois de todos aqueles anos de ausência entrecortados por breves estadas,
sentiam-se estranhos ali. Yvonne me confidenciou que ficaria espantada se soubesse, aos 16 anos, que um dia moraria no Hermitage com a impressão de se encontrar
numa estação de águas desconhecida. No início, eu ficava indignado com esse tipo de coisa.
117
Eu, que tinha sonhado nascer numa pequena cidade de província, não compreendia que se pudesse renegar o local da própria infância, as ruas, as praças e as casas
que compunham a própria paisagem original. O próprio abrigo. E que não se retornasse a ele com o coração batendo. Eu explicava a Yvonne com gravidade meu ponto
de vista de apátrida. Ela não me escutava. Estava deitada na cama com robe de seda furado e fumava cigarros Muratti. (Por causa do nome: Muratti, que ela achava
muito chique, exótico e misterioso. Esse nome ítalo-egípcio me fazia bocejar de tédio porque lembrava o meu.) Eu lhe falava da Nacional 201, da igreja de São Cristóvão
e da garagem de seu tio. E o cinema Splendid? E a rua Royale, que ela devia percorrer aos 16 anos, parando em cada vitrine? E tantos outros lugares que eu ignorava
e que com certeza estavam ligados em seu espírito a recordações? A estação, por exemplo, ou os jardins do Casino. Ela dava de ombros. Não. Aquilo tudo não lhe dizia
mais nada.
No entanto, ela me levou várias vezes a uma espécie de grande salão de chá. íamos lá em torno das duas horas da tarde, quando os veranistas estavam na praia ou
dormiam a sesta. Era preciso seguir as arcadas, depois da Taverne, atravessar uma rua, seguir de novo as arcadas: elas, com efeito, corriam em torno de dois
grandes blocos de edifícios construídos na mesma época que o Casino e que lembravam as residências de 1930 da periferia da XVII circunscrição, bulevares Gouvion-Saint-Cyr,
de Dixmude, de Yser e da Somme. O lugar se chamava Réganne e as arcadas o protegiam do sol. Não tinha terraço como a Taverne. Adivinhava-se que aquele estabelecimento
tinha tido seu momento de glória, mas que a Taverne o havia suplantado. Instalávamo-nos a uma mesa do fundo. A menina da caixa, uma morena de cabelo curto que
se chamava Claude, era amiga de Yvonne. Vinha ter conosco. Yvonne lhe pedia notícias de gente sobre quem eu já a tinha escutado falar com Meinthe. Sim, Rosy cuidava
do hotel de La Clusaz no lugar do pai e Paulo Hervieu trabalhava com antiguidades. Pimpin Lavorel continuava
118
dirigindo feito louco. Acabava de comprar um Jaguar. Claude Brun estava na Argélia. A "Yéyette" tinha sumido...
- E você, tudo indo em Genebra? - perguntava Claude. - Oh, sim, você sabe... tudo indo... tudo indo - respondia Yvonne, pensando em outra coisa.
- Você está em sua casa? - Não. No Hermitage. - No Hermitage? Ela sorria ironicamente. - Você tinha que vir ver o quarto - propunha Yvonne -, é engraçado...
- Ah, sim, eu gostaria de ver... Uma noite dessas... Ela tomava um drinque conosco. A grande sala do Réganne estava deserta. O sol desenhava redes sobre a parede.
Atrás do balcão de madeira escura, um afresco representando o lago e a cadeia de Aravis.
- Aqui agora não tem mais ninguém constatava Yvonne.
- Só velhos - dizia Claude. Ela ria um riso incomodado. - Mudou, hein? Yvonne também forçava o riso. Depois calavam-se. Claude contemplava as unhas, cortadas
muito curtas e pintadas com esmalte laranja. Não tinham mais nada a se dizer. Eu gostaria de lhes fazer perguntas. Quem era Rosy? E Paulo Hervieu? Desde quando
elas se conheciam? Como era Yvonne aos 16 anos? E o Réganne antes de o terem transformado em salão de chá? Mas aquilo tudo não lhes interessava mais, nem a uma,
nem a outra. Em suma, só eu me preocupava com o passado delas de princesas francesas.
Claude nos acompanhava até a porta giratória e Yvonne a beijava. Ainda lhe propunha:
- Venha ao Hermitage quando quiser... Para ver o quarto...
- Está bem, uma noite dessas... Mas nunca veio.
119
Com exceção de Claude e do tio, parecia que Yvonne nada tinha deixado para trás naquela cidade, e eu me espantava de que se pudesse cortar tão depressa as raízes
quando, por acaso, tínhamos em algum lugar.
Os quartos dos "palácios" iludem, nos primeiros dias, mas logo suas paredes e seus móveis taciturnos desprendem a mesma tristeza que os dos hotéis sujos. Luxo insípido,
odor adocicado nos corredores, que não consigo identificar, mas que deve ser mesmo o odor da inquietude, da instabilidade, do exílio e do alarme. Odor que jamais
deixou de me acompanhar. Saguões de hotel onde meu pai marcava encontros comigo, com suas vitrines, seus espelhos e seus mármores e que são apenas salas de espera.
De que, exatamente? Bolores de passaportes Nansen.
Mas nós não passávamos sempre a noite no Hermitage. Duas ou três vezes por semana Meinthe nos pedia que dormíssemos na casa dele. Tinha que se ausentar nessas noites
e me encarregava de atender ao telefone e tomar nota dos nomes e "mensagens". Especificou que o telefone poderia tocar a qualquer hora da noite, sem me revelar
quais eram seus misteriosos interlocutores.
Ele morava na casa que tinha pertencido a seus pais, no meio de um bairro residencial, antes de Carabacel. Pegava-se a avenida de Albigny e virava-se à esquerda,
logo depois da prefeitura. Quarteirão deserto, ruas ladeadas de árvores cujas folhagens formavam abóbadas. Vilas da burguesia local em volumes e estilos variáveis,
conforme o grau de fortuna. A dos Meinthe, na esquina da avenida Jean-Charcot e da rua Marlioz, era bastante modesta comparada às outras. Tinha uma cor azulcinza,
uma varandinha dando para a avenida Jean-Charcot e uma bow window do lado da rua. Dois andares, o segundo com mansarda. Um jardim de chão de cascalho. Uma cerca
de sebe abandonada. E no portão de madeira branca descascado, Meinthe tinha inscrito grosseiramente com tinta preta (foi ele que me contou): "Ville triste".
120
Com efeito, ela não respirava alegria, aquela vila. Não. No entanto, no início achei que o qualificativo "triste" não lhe convinha. E depois acabei compreendendo
que Meinthe tinha razão, se se percebe na sonoridade da palavra "triste" algo de doce e cristalino. Ultrapassado o portão da vila, éramos tomados por uma melancolia
límpida. Entrava-se numa zona de calma e de silêncio. O ar era mais leve. Flutuava-se. Os móveis, sem dúvida, tinham se perdido. Restava apenas um pesado sofá
de couro nos braços do qual eu notava marcas de unhas e, à esquerda, uma biblioteca envidraçada. Ao sentar no sofá, tinha-se, a cinco ou seis metros à frente, a
varanda. O assoalho era claro, mas mal cuidado. Uma lâmpada de louça com abajur amarelo colocado no próprio chão iluminava aquele grande cômodo. O telefone ficava
numa sala ao lado, a que se tinha acesso por um corredor. A mesma falta de móveis. Uma cortina vermelha ocultava a janela. As paredes eram de cor ocre, como as
do salão. Contra a parede da direita, uma cama de armar. Pregados na parede oposta, à altura de uma pessoa, um mapa Taride da África ocidental francesa e uma grande
vista aérea de Dacar, cercada por uma moldura muito fina. Parecia provir de um órgão de turismo. A fotografia meio marrom devia ter uns vinte anos de idade. Meinthe
me contou que seu pai tinha trabalhado algum tempo "nas colônias". O telefone ficava junto à cama. Um pequeno lustre com velas falsas e falsos cristais. Meinthe
dormia ali, acho.
Abríamos a porta da sacada e nos deitávamos no sofá. Ele tinha um cheiro muito particular de couro que só encontrei nele e nas duas poltronas que ornavam o escritório
de meu pai, na rua Lord-Byron. Era no tempo das viagens dele a Brazzaville, no tempo da misteriosa e quimérica Sociedade Africana de Empreendimento, que ele criou,
e sobre a qual não sei grande coisa. O cheiro do sofá, o mapa Taride da A.O.F. e a fotografia aérea de Dacar compunham uma série de coincidências. Em meu espírito,
a casa de Meinthe estava indissoluvelmente ligada à Sociedade Africana de Empreendimento, três palavras que
121
embalaram minha infância. Eu reencontrava o clima da rua Lord-Byron, perfume de couro, penumbra, conciliábulos intermináveis de meu pai com negros muito elegantes
de cabelos brancos... Era por isso que quando ficávamos Yvonne e eu no salão eu tinha a certeza de que o tempo tinha deveras parado?
Nós flutuávamos. Nossos gestos tinham uma lentidão infinita e quando nos deslocávamos era centímetro por centímetro. De rastos. Um movimento brusco teria destruído
o encanto. Falávamos em voz baixa. A noite invadia a sala pela varanda e eu via grãos de poeira estagnarem no ar. Um ciclista passava e eu ouvia o ronronar da
bicicleta durante vários minutos. Também ele progredia centímetro por centímetro. Ele flutuava. Tudo flutuava a nossa volta. Nós nem acendíamos a luz quando a
noite caía. O poste mais próximo, na avenida Jean-Charcot, difundia uma claridade de neve. Nunca sair dessa vila. Nunca deixar essa sala. Deitar no sofá ou talvez
no chão, como fazíamos cada vez com maior freqüência. Eu me espantava por descobrir em Yvonne uma aptidão tamanha para o abandono. Em mim, aquilo correspondia a
um horror ao movimento, uma inquietação em relação a tudo o que se move, que passa e que muda, ao desejo de não mais andar sobre areia movediça, de me fixar em
algum lugar, à necessidade de me petrificar. Mas e nela? Acho que era simplesmente preguiçosa. Como uma alga.
Chegávamos a deitar no corredor e lá permanecer a noite toda. Uma noite, rolamos para o fundo de um quarto de despejo, embaixo da escada que levava ao primeiro
andar e nos vimos prensados entre volumes imprecisos que identifiquei como sendo baús de vime. Mas não, não estou sonhando: nos deslocávamos de rastos. Partíamos
cada um de um ponto oposto da casa e rastejávamos no escuro. Era preciso ser o mais silencioso possível, e o mais lento, para que um dos dois surpreendesse o outro.
Uma vez Meinthe só voltou na noite seguinte. Não tínhamos nos deslocado da vila. Continuávamos esticados no assoalho, à borda da varanda. O cão dormia no meio do
sofá.
Era uma tarde pacífica e ensolarada. As folhas das árvores oscilavam docemente. Uma música militar muito longe. De vez em quando, um ciclista passava pela avenida
num zumbido de asas. Logo não ouvíamos mais ruído algum. Eram abafados por um acolchoado muito macio. Acho que se não fosse a chegada de Meinthe, não teríamos
nos mexido durante dias e dias, morreríamos de fome e de sede, para não ter que sair da vila. Nunca vivi depois momentos tão plenos e tão lentos como aqueles. O
ópio parece produzi-los. Eu duvido.
O telefone tocava sempre depois de meia-noite, à moda antiga, tiritando. Campainha delicada, usada, tocava baixinho. Mas era o suficiente para criar uma ameaça
no ar e rasgar o véu. Yvonne não queria que eu atendesse. "Não vai", ela cochichava. Eu rastejava tateando ao longo do corredor, não encontrava a porta da sala,
apoiava a cabeça contra a parede. E, com a porta aberta, era preciso ainda rastejar até o aparelho, sem qualquer ponto de referência visível. Antes de tirar do
gancho, eu experimentava uma sensação de pânico. Aquela voz - sempre a mesma - aterrorizava-me, dura e ao mesmo tempo ensurdecida por uma coisa qualquer. A distância?
O tempo? (Às vezes, poder-se-ia imaginar que se tratava de uma velha gravação.) Começava, invariavelmente, com:
- Alô, aqui é Henri Kustiker... Está me ouvindo? Eu respondia: "Sim". Uma pausa. - O senhor diga ao doutor que o esperamos amanhã às 21 horas no Bellevue, em
Genebra. O senhor entendeu?...
Eu soltava um sim mais fraco do que o primeiro. Ele desligava. Quando não marcava encontros, confiava-me mensagens:
- Alô, aqui é Henri Kustiker... - Uma pausa. - O senhor diga ao doutor que o comandante Max e Guérin chegaram. Viremos vê-lo amanhã à noite... amanhã à noite...
Eu não tinha força para responder. Ele já desligava. "Henri Kustiker" - toda vez que perguntávamos sobre ele a Meinthe,
123
ele não respondia - tornou-se para nós um personagem perigoso que ouvíamos rondar a vila. Não o conhecíamos de rosto e por isso ele se tornava cada vez mais obcecante.
Eu me divertia aterrorizando Yvonne. Afastava-me dela e repetia no escuro, numa voz lúgubre:
- Aqui é Henri Kustiker... Aqui é Henri Kustiker... Ela berrava. E por contágio, o medo me dominava também. Esperávamos, com o coração batendo, o tiritar do telefone.
Nós nos encolhíamos debaixo da cama de armar. Uma noite ele tocou mas só consegui tirar o aparelho do gancho depois de vários minutos, como naqueles pesadelos
em que todos os nossos gestos têm peso de chumbo.
- Alô, aqui é Henri Kustiker... Eu não conseguia proferir uma única sílaba. - Alô... Está me ouvindo?... Está me ouvindo?... Prendíamos a respiração. - Aqui
é Henri Kustiker, está me ouvindo?... A voz estava cada vez mais fraca. - Kustiker... Henri Kustiker... Está me ouvindo?... Quem era ele? De onde podia estar
telefonando? Um ligeiro murmúrio ainda.
- Tiker... ouvindo... Mais nada. O último fio que nos ligava ao mundo exterior acabava de se romper. Nós nos deixávamos deslizar de novo até as profundezas onde
mais ninguém - eu esperava - viesse nos perturbar.
124
XII
É o terceiro "porto claro" dele. Ele não tira os olhos da fotografia grande de Hendrickx por cima das fileiras de garrafas. Hendrickx na época de seu esplendor,
vinte anos antes daquele verão em que fiquei furioso por vê-lo dançar, na noite da taça, com Yvonne. Hendrickx jovem, magro e romântico - mistura de Mermoz com
o duque de Reichstadt - uma velha fotografia que a menina que tomava conta do botequim do Sporting tinha me mostrado um dia quando eu lhe fazia perguntas sobre
meu "rival". Ele engordou muito depois.
Suponho que Meinthe, ao contemplar aquele documento histórico, tenha acabado sorrindo, com seu sorriso inesperado que jamais exprimia alegria, mas que era uma
descarga nervosa. Pensou na noite em que nos encontrávamos os três na SainteRose, depois da taça? Deve ter contado os anos: cinco, dez, 12... tinha mania de contar
os anos e os dias. "Daqui a um ano e 33 dias será meu vigésimo sétimo aniversário... Faz sete anos e cinco dias que Yvonne e eu nos conhecemos..."
O outro cliente saía, num andar hesitante, depois de ter acertado seus "dry", mas tinha se recusado a acrescentar o preço dos telefonemas, dizendo que não tinha
pedido o "233 em Chambéry". Como a discussão ameaçava prolongar-se até a
125
aurora, Meinthe lhe tinha explicado que acertaria ele próprio o telefone. E que, aliás, tinha sido ele mesmo, Meinthe, quem tinha pedido o 233 em Chambéry. Ele
e somente ele.
Daqui a pouco meia-noite. Meinthe lança um último olhar para a fotografia de Hendrickx e se dirige à porta do Cintra. No momento em que vai sair, dois homens entram,
empurrando-o, e mal se desculpam. Depois três. Depois cinco. Vêm em número cada vez maior, e ainda vêm mais. Cada um deles traz, pregado na parte de trás do casaco,
um pequeno retângulo de papelão em que se lê: "Inter-Touring". Falam muito alto, riem muito alto, dão grandes tapas nas costas. Os membros do "congresso" de que
falava há pouco a garçonete. Um deles, mais cercado de gente do que os outros, fuma cachimbo. Eles fazem reviravoltas em torno dele e o interpelam: "Presidente...
Presidente... Presidente...". Meinthe tenta em vão abrir caminho. Eles recuaram quase para junto do bar. Formam grupos compactos. Meinthe os contorna, procura
um buraco, intromete-se, mas sente outra vez a pressão deles e perde terreno. Transpira. Um deles lhe pôs a mão no ombro, achando, sem dúvida, que se trata de
um "confrade" e Meinthe é logo integrado a um grupo: o do "presidente". Estão comprimidos como na estação Chaussée d'Antin nas horas de pico. O presidente, de
menor estatura, protege o cachimbo envolvendo-o com a palma da mão. Meinthe consegue se soltar daquela confusão, dá uns empurrões com os ombros, umas cotoveladas
e se lança, afinal, contra a porta. Ele a entreabre e desliza para a rua. Alguém sai atrás dele e o repreende:
- Onde vai? O senhor é do Inter-Touring? Meinthe não responde. - O senhor deve ficar. O presidente está oferecendo um "pot"... Vamos, fique...
Meinthe apressa o passo. O outro recomeça, com uma voz suplicante:
- Vamos, fique... Meinthe anda cada vez mais depressa. O outro se põe a gritar:
126
- O presidente vai perceber que está faltando um cara do Inter-Touring... Volte... Volte...
Sua voz soa clara na rua deserta. Mei nthe agora se encontra diante do jato d'água do Casino. No inverno, ele não muda de cor e sobe bem menos do que durante
a "estação". Ele o observa um instante e depois atravessa e segue a avenida de Albigny pela calçada da esquerda. Anda lentamente e faz ligeiros ziguezagues. Dir-se-ia
que flana. De vez em quando, dá um tapinha na casca de um plátano. Ladeia a prefeitura. É claro, pega a primeira rua à esquerda que se chama - se minhas recordações
estão corretas - avenida MacCroskey. Há 12 anos essa fileira de prédios novos não existia. No lugar havia um parque abandonado no meio do qual se erguia uma casa
grande em estilo anglo-normando, desabitada. Ele chega à encruzilhada Pelliot. Nós freqüentemente nos sentamos num dos bancos, Yvonne e eu. Ele pega, à direita,
a avenida Pierre-Forsans. Eu poderia fazer esse caminho de olhos fechados. O bairro não mudou muito. Pouparam-no, por razões misteriosas. As mesmas vilas cercadas
por seus jardins e pequenas sebes, as mesmas árvores dos dois lados das avenidas. Mas faltam as folhas. O inverno dá a tudo isso uma característica desolada.
Eis-nos na rua Marlioz. A vila está na esquina, lá em baixo, à esquerda. Eu a vejo. Eu o vejo, andando num passo ainda mais lento do que há pouco e empurrando com
o ombro o portão de madeira. Você sentou no sofá do salão e não acendeu a luz. O poste, em frente, espalha sua claridade branca.
"8 de dezembro... Um médico de A..., Sr. René Meinthe, 37 anos, suicidou-se na noite de sexta-feira para sábado em seu domicílio. O desesperado tinha aberto o
gás."
Eu contornava - já não sei por quê - as arcadas, rua de Castiglione, quando li essas poucas linhas num jornal vespertino. Le Dauphiné, diário da região, dava mais
detalhes. Meinthe recebia as honras da primeira página, com a manchete: "O
127
SUICÍDIO DE UM MÉDICO DE A...", que remetia para a página 6, a das informações locais:
"8 de dezembro. O doutor René Meinthe suicidou-se, na noite passada, na sua vila, no número 5 da avenida Jean-Charcot. A senhorita B., empregada do doutor, ao
entrar na casa, como toda manhã, foi logo alertada por um cheiro de gás. Era tarde demais. O doutor Meinthe teria deixado uma carta.
Ele tinha sido visto ontem à noite na estação, no momento da chegada do expresso com destino a Paris. Segundo uma testemunha, teria passado algum tempo no Cintra,
rua Sommeiller, 23.
O doutor René Meinthe, depois de ter exercido a medicina em Genebra, tinha voltado há cinco anos a A..., berço de sua família. Aí praticava a osteopatia. Eram conhecidas
suas dificuldades de ordem profissional. Elas explicam seu gesto desesperado?
Ele tinha 37 anos. Era filho do doutor Henri Meinthe, que foi um dos heróis e mártires da Resistência e é nome de uma rua de nossa cidade."
Andei ao acaso e meus passos me conduziram até a praça do Carrousel, que atravessei. Entrei num dos dois pequenos jardins que cercam o palácio do Louvre, na frente
da Cour Carrée. Fazia um doce sol de inverno e crianças brincavam sobre o gramado em declive, ao pé da estátua do general La Fayette. A morte de Meinthe deixaria
para sempre certas coisas na sombra. Assim, eu jamais viria a saber quem era Henri Kustiker. Repeti esse nome em voz alta: Kus-ti-ker, Kus-ti-ker, um nome que
não tinha mais sentido, exceto para mim. E para Yvonne. Mas o que tinha acontecido com ela? O que torna o desaparecimento de um ser mais sensível são as palavras
- a senha - que existiam entre ele e nós e que de repente ficam inúteis e vazias.
Kustiker... Na época, eu tinha feito mil suposições, cada uma mais inverossímil do que a outra, mas a verdade, eu sentia isso, devia ser, também ela, esquisita.
E inquietante. Meinthe,
128
às vezes, nos convidava para tomar chá na vila. Uma tarde, por volta das cinco horas, encontrávamo-nos no salão. Escutávamos a música preferida de René: The Café
Mozart Waltz, cujo disco ele punha e repunha. Tocaram à porta. Ele tentou reprimir um tique nervoso. Eu vi - e Yvonne também - dois homens no patamar da escada
segurando um terceiro com o rosto inundado de sangue. Eles atravessaram rapidamente o vestíbulo e se dirigiram ao quarto de Meinthe. Ouvi um dos dois dizer:
- Dê uma injeção de cânfora. Senão esse porcalhão vai bater as botas em nossas mãos...
Sim. Yvonne escutou a mesma coisa. René veio ter conosco e nos pediu para ir embora no ato. Disse num tom seco: "Depois explico..."
Não nos explicou, mas tinha sido suficiente entrever os dois homens para saber que se tratava de "policiais" ou indivíduos que tinham uma relação qualquer com a
polícia. Alguns fragmentos, algumas mensagens de Kustiker confirmaram essa opinião. Era a época da guerra da Argélia e Genebra, onde Meinthe mantinha seus encontros,
servia como eixo. Agentes de todos os tipos. Polícias paralelas. Redes clandestinas. Nunca entendi nada disso. Que papel desempenhava René naquilo? Diversas vezes
adivinhei que ele gostaria de se abrir comigo, mas sem dúvida me julgava jovem demais. Ou simplesmente era tomado, antes das confidências, por um imenso cansaço
e preferia guardar seu segredo.
Uma noite, no entanto, quando eu não parava de lhe perguntar que tipo de brincadeira era aquele "Henri Kustiker" e Yvonne implicava com ele, repetindo a frase ritual
- "Alô, aqui é Henri Kustiker..." - sua aparência era mais tensa do que de costume. Ele declarou surdamente: "Se vocês soubessem tudo o que esses sujos me obrigam
a fazer..." E acrescentou numa voz breve: "Bom seria se eu pudesse esquecer as histórias deles de Argélia..." No minuto seguinte, voltava à despreocupação e ao
bom humor e nos propunha ir à Sainte-Rose.
Depois de 12 anos, eu me dava conta de que não sabia
129
muita coisa sobre René Meinthe e condenava minha falta de curiosidade na época em que o via todos os dias. Depois, a figura de Meinthe - e a de Yvonne também -
embaralharam-se e eu tinha a impressão de não mais distingui-las a não ser através de um vidro fosco.
Lá, naquele banco de praça, com o jornal que anunciava a morte de René a meu lado, revi breves seqüências daquela estação, mas tão vagas como de costume. Uma noite
de sábado, por exemplo, quando jantávamos, Meinthe, Yvonne e eu, numa pequena tasca à beira do lago. Em torno de meia-noite, um grupo de malandros cercava nossa
mesa e começava a nos atacar. Meinthe, com o maior sangue-frio, tinha apanhado uma garrafa, quebrado contra a borda da mesa e brandia o gargalo cheio de pontas.
- O primeiro que se aproximar, eu corto a garganta... Disse essa frase num tom de alegria malvada que me dava medo. Aos outros também. Eles recuaram. No caminho
de volta, René cochichou:
- Quando eu penso que ficaram com medo da rainha Astrid...
Ele admirava particularmente essa rainha e sempre levava consigo uma fotografia dela. Acabou se convencendo de que, numa vida anterior, ele tinha sido a jovem,
bela e infeliz rainha Astrid. Com a fotografia de Astrid, levava aquela onde figurávamos nós três, na noite da taça. Eu tenho uma outra, tirada na avenida de Albigny,
em que Yvonne me segura pelo braço. O cachorro está a nosso lado, grave. Dir-se-ia uma fotografia de noivado. E depois, conservei uma outra muito mais antiga,
que Yvonne me deu. Data do tempo do barão. Vêem-se os dois, Meinthe e ela, numa tarde ensolarada, sentados no terraço do bar Basque de Saint-Jean-de-Luz.
São essas as únicas imagens nítidas. Uma bruma aureola todo o resto. Saguão e quarto do Hermitage. Jardins do Windsor e do hotel Alhambra. Vila Triste. A Sainte-Rose.
Sporting. Casino. Houligant. E as sombras de Kustiker (mas quem era Kustiker?), de Yvonne Jacquet e de um tal de conde Chmara.
130
XIII
Foi mais ou menos nessa época que Marilyn Monroe nos deixou. Eu tinha lido muitas coisas a seu respeito nas revistas e a citava como exemplo para Yvonne. Ela também,
se quisesse, poderia fazer uma bela carreira no cinema. Francamente, tinha tanto charme quanto Marilyn Monroe. Bastava-lhe ter a mesma perseverança.
Ela me escutava sem nada dizer, deitada na cama. Eu falava do início difícil de Marilyn Monroe, das primeiras fotografias para folhinhas, dos primeiros pequenos
papéis, dos degraus galgados um após o outro. Ela, Yvonne Jacquet, não devia parar no meio do caminho. "Modelo volante." Em seguida, um primeiro papel em Liebesbriefe
auf dem Berg, de Rolf Madeja. E acabava de levar a Taça Houligant. Cada etapa tinha sua importância. Era preciso pensar na próxima. Subir um pouco mais. Um pouco
mais.
Ela não me interrompia quando eu lhe expunha minhas idéias acerca de sua "carreira". Escutava-me de verdade? No início, sem dúvida, ficou surpresa com tamanho
interesse de minha parte, e lisonjeada por eu entretê-la com seu belo futuro com tanta veemência. Talvez, por instantes, eu lhe tenha comunicado meu entusiasmo
e ela se punha, também, a sonhar. Mas aquilo não durava, suponho. Ela era mais velha do que eu. Quanto
131
mais penso nisso, mais me digo que ela vivia aquele momento da juventude em que tudo de repente vai balançar, em que vai ser um pouco tarde demais para tudo.
O barco ainda está no cais, basta atravessar o passadiço, restam alguns minutos... Uma doce ancilose lhe toma.
Meus discursos a faziam rir, às vezes. Cheguei a vê-la dar de ombros quando lhe disse que os produtores com certeza iriam notar sua aparição em Liebesbriefe auf
dem Berg. Não, ela não acreditava nisso. Ela não tinha o fogo sagrado. Mas Marilyn Monroe também não, no início. Isso vem, o fogo sagrado.
Muitas vezes me pergunto onde ela pode ter falhado. Com certeza, ela não é mais a mesma e sou obrigado a consultar as fotografias para ter bem na memória o rosto
que ela tinha naquela época. Tento em vão, há anos, ver Liebesbriefe auf dem Berg. As pessoas a quem perguntei me disseram que esse filme não existia. O próprio
nome de Rolf Madeja não lhes dizia grande coisa. Eu lamento. No cinema teria reencontrado sua voz, seus gestos e seu olhar tais como os conheci. E amei.
Onde quer que ela esteja - muito longe, imagino - lembra-se vagamente dos projetos e dos sonhos que eu arquitetava no quarto do Hermitage, enquanto preparávamos
a refeição do cachorro? Lembra-se da América?
Pois, se atravessávamos os dias e as noites em deliciosa prostração, isso não me impedia de pensar em nosso futuro, que eu via em cores cada vez mais exatas. Eu
tinha, com efeito, pensado seriamente no casamento de Marilyn Monroe e Arthur Miller, casamento entre uma verdadeira americana, saída do mais profundo da América,
e um judeu. Nós teríamos um destino um tanto parecido, Yvonne e eu. Ela, francesinha da terra, que viriá a ser daqui a alguns anos uma estrela de cinema. E eu,
que terminaria sendo um escritor judeu, com grossíssimos óculos de tartaruga.
Mas a França, de repente, pareceu ser um território por demais estreito, onde eu não conseguiria de fato mostrar do que
132
era capaz. O que poderia alcançar naquele pequeno país? Um comércio de antiguidades? Um emprego de comerciante de livros? Uma carreira de literato tagarela e friorento?
Nenhuma dessas profissões despertava meu entusiasmo. Era preciso partir, com Yvonne.
Eu não deixaria nada para trás, pois não tinha ligações em lugar algum e Yvonne havia rompido as dela. Teríamos uma vida nova.
Inspirei-me no exemplo de Marilyn Monroe e Arthur Miller? Logo pensei na América. Lá, Yvonne se dedicaria ao cinema. E eu à literatura. Nós nos casaríamos na grande
sinagoga do Brooklyn. Encontraríamos dificuldades múltiplas. Talvez elas nos massacrassem definitivamente, mas se as vencêssemos, então o sonho tomaria forma. Arthur
e Marilyn. Yvonne e Victor.
Eu previa para bem mais tarde um retorno à Europa. Nós nos aposentaríamos numa região montanhosa - Tessin ou Engadine. Moraríamos num imenso chalé, cercado por
um parque. Numa estante, os Oscars de Yvonne e meus diplomas de doutor honoris causa das universidades de Vale e do México. Teríamos uma dezena de dogues alemães,
encarregados de retalhar os eventuais visitantes e jamais veríamos ninguém. Passaríamos dias jogados no quarto como nos tempos do Hermitage e da Vila Triste.
Para esse segundo período de nossa vida, eu tinha me inspirado em Paulette Godard e Erich Maria Remarque.
Ou então ficávamos na América. Encontrávamos uma grande casa no campo. O título de um livro largado no salão de Meinthe tinha me impressionado: A verde relva do
Wyoming. Nunca o li, mas basta repetir A verde relva do Wyoming para eu sentir uma fisgada no coração. Definitivamente, era naquele país que não existe, no meio
daquela relva alta e de um verde transparente, que eu gostaria de viver com Yvonne.
133
O projeto de partida para a América, refleti sobre ele diversos dias antes de falar com ela. Havia o risco de ela não me levar a sério. Era preciso, antes, acertar
os detalhes materiais. Não improvisar nada. Eu juntaria o dinheiro da viagem. Dos 800 mil francos que tinha arrancado do bibliófilo de Genebra, restava em torno
da metade, mas eu contava com outro recurso: uma borboleta extremamente rara que levava há alguns meses nas malas, espetada no fundo de uma caixinha de vidro.
Um perito tinha me afirmado que o animal valia "por baixo" 400 mil francos. Ele valia, conseqüentemente, o dobro e eu poderia conseguir o triplo se o vendesse
a um colecionador. Eu mesmo apanharia os bilhetes na companhia geral transatlântica e acabaríamos no hotel Algonquin de Nova York.
Em seguida, eu contava com minha prima, Bella Darvi, que tinha feito carreira lá, para nos introduzir no meio do cinema. Pronto. Era esse, em grandes linhas, meu
plano.
Contei até três e me sentei num degrau da grande escadaria. Através da rampa, via o balcão da recepção, embaixo, e o porteiro que falava com um indivíduo careca
de smoking. Ela se virou, surpresa. Estava usando seu vestido de musselina verde e um lenço da mesma cor.
- E se fôssemos para a América? Eu tinha criado aquela frase com medo que ela ficasse no fundo da garganta ou que se transformasse num arroto. Respirei bem e repeti
também alto:
- E se fôssemos para a América? Ela veio se sentar no degrau, a meu lado, e me apertou o braço.
- Você não está bem? - perguntou. - Claro que estou. É muito simples... Muito, muito simples... Vamos para a América...
Ela examinou os sapatos de salto, beijou-me no rosto e me disse que eu lhe explicaria aquilo mais tarde. Já passava das
134
nove horas e Meinthe nos esperava na Resserre deVeyrier-duLac.
O lugar lembrava os albergues das cercanias de Mame. As mesas estavam arrumadas numa grande chata, em torno da qual haviam posto grades e tinas de plantas e arbustos.
Jantavase à luz de velas. René tinha escolhido uma das mesas mais próximas da água.
Ele vestia seu terno de xantungue bege e nos acenou com o braço. Estava em companhia de um moço que nos apresentou, mas cujo nome esqueci. Sentamo-nos à frente
deles.
- É muito agradável aqui - declarei - para iniciar a conversa.
- É, pode ser - disse René. - Este hotel é mais ou menos um ponto de encontro...
- Desde quando? - perguntou Yvonne. - Desde sempre, minha querida. Ela me olhou de novo, caindo na gargalhada. E depois: - Sabe o que o Victor me propôs? Quer
me levar para a América.
- Para a América? Visivelmente, ele não estava compreendendo. - Idéia esquisita. - Sim - eu disse. - Para a América. Ele me sorriu com um ar cético. Para ele,
tratava-se de palavras ao vento. Virou-se para o amigo.
- E então, melhorou? O outro respondeu com um sinal de cabeça. - Agora você tem que comer. Ele lhe falava como a uma criança, mas o rapaz devia ser um pouco
mais velho do que eu. Tinha o cabelo louro curto, um rosto de traços angelicais e uma largura de lutador.
René nos explicou que o amigo tinha concorrido à tarde pelo título de "mais belo atleta da França". A prova tinha acontecido no Casino. Ele tinha ficado apenas
com o terceiro lugar
135
dos juniores. O outro passou a mão no cabelo e, dirigindo-se a mim:
- Não tive sorte... Eu o ouvia falar pela primeira vez e, pela primeira vez, notei seus olhos de um azul lavanda. Ainda hoje me lembro da aflição infantil daquele
olhar. Meinthe encheu o prato dele de alimentos crus. O outro dirigia-se sempre a mim e também a Yvonne. Sentia-se à vontade.
- Esses sujos do júri... eu devia ter ganho a melhor nota em poses plásticas livres... - Cale-se e coma - disse Meinthe, num tom afetuoso.
De nossa mesa, viam-se as luzes da cidade, ao fundo, e virando-se ligeiramente a cabeça uma outra luz, muito brilhante, chamava a atenção, bem à frente, na margem
oposta: a SainteRose. Naquela noite, as fachadas do Casino e do Sporting estavam sendo varridas por projetores cujos fachos atingiam as bordas do lago. A água tomava
matizes vermelhos ou verdes. Eu escutava uma voz desmesuradamente amplificada por um altofalante, mas estávamos longe demais para apreender as palavras. Tratava-se
de um espetáculo som e luz. Eu tinha lido na imprensa local que nessa ocasião um ator da Comédie-Française, Marchat, acho eu, declamaria O lago, de Alphonse de
Lamartine. Eram, sem dúvida, da voz dele os ecos que percebíamos.
- Devíamos ter ficado na cidade para ver - disse Meinthe. - Eu adoro o som e luz. E você?
Ele se dirigia ao amigo. - Não sei - respondeu o outro. Seu olhar estava ainda mais desesperado do que no primeiro instante.
- Poderíamos passar lá daqui a pouco - propôs Yvonne sorrindo.
- Não - disse Meinthe -, esta noite tenho que ir a Genebra.
O que ia fazer lá? Com quem se encontrava no Bellevue ou no Pavillon Arosa, aqueles locais que me indicava Kustiker
136
pelo telefone? Um dia, não voltaria vivo. Genebra, cidade de aparência asséptica, mas devassa. Cidade incerta. Cidade de trânsito.
- Vou ficar lá uns três ou quatro dias - disse Meinthe. - Telefono para vocês quando voltar.
- Mas teremos partido para a América, Victor e eu, daqui até lá - disse Yvonne.
E ela riu. Eu não entendia por que ela levava meu projeto na brincadeira. Eu sentia uma raiva surda tomar conta de mim.
- Enjoei da França - eu disse, num tom sem réplica. - Eu também - disse o amigo de Meinthe, de modo brutal que contrastava com a timidez e a tristeza que tinha
mostrado até então. E essa observação distendeu a atmosfera.
Meinthe tinha pedido bebida e éramos os únicos clientes que ainda permanecíamos no pontão. Os alto-falantes, na distância, difundiam uma música de que só nos chegavam
fragmentos.
- Essa é a banda municipal disse Meinthe. - Ela toca em todos os som e luz. Ele se virou para nós: O que é que vocês vão fazer esta noite?
- Fazer as malas para ir para a América - declarei, secamente.
De novo, Yvonne me examinou com inquietude. - Ele continua com a América dele - disse Meinthe. - Então vocês iriam me deixar aqui sozinho?
- Claro que não - eu disse. Brindamos os quatro, sem mais nem menos, sem razão alguma, mas porque Meinthe o propunha. Seu amigo esboçou um sorriso pálido e seus
olhos azuis foram atravessados por um lampejo furtivo de alegria. Yvonne me deu a mão. Os serventes já começavam a arrumar as mesas.
São essas as recordações que ficaram desse último jantar.
137
Ela me escutava, franzindo as sobrancelhas, de uma maneira estudiosa. Estava deitada na cama, vestida com o velho robe de seda de bolas vermelhas. Eu lhe explicava
meu plano: a companhia geral transatlântica, o hotel Algonquin e minha prima Bella Darvi... A América em cuja direção vogaríamos dali a alguns dias, aquela terra
prometida que me parecia, à medida que eu falava, cada vez mais próxima, quase ao alcance da mão. Já não se viam as luzes, lá embaixo, do outro lado do lago?
Ela me interrompeu duas ou três vezes para me fazer perguntas: "O que é que vamos fazer na América? Como poderemos obter vistos? Com que dinheiro viveremos?" E eu
mal me dava conta, tão entretido estava com meu tema, de que sua voz se tornava cada vez mais pastosa. Ela estava com os olhos semicerrados ou mesmo fechados,
e de repente os abria arregaladamente e me examinava com uma expressão horrorizada. Não, nós não podíamos permanecer na França, naquele pequeno país sufocante,
em meio àqueles "degustadores" afogueados, aqueles ciclistas de corrida e aqueles gastrônomos dementes que sabiam diferenciar diversas espécies de peras. Eu sufocava
de raiva. Não podíamos permanecer nem um minuto mais naquele país onde se faziam caçadas, perseguições. Acabado. Nunca mais. As malas. Depressa.
Ela tinha adormecido. Sua cabeça tinha deslizado ao longo das barras da cama. Parecia ter cinco anos a menos, com as bochechas ligeiramente intumescidas, o sorriso
quase imperceptível. Tinha adormecido como acontecia quando eu lia para ela a História da Inglaterra mas, dessa vez, ainda mais depressa do que escutando Maurois.
Eu a olhava, sentado na borda da janela. Soltavam fogos de artificio em algum lugar.
Comecei a arrumar as malas. Eu tinha apagado todas as
138
luzes do quarto para não acordá-la, exceto a da cabeceira. Ia pegando as coisas dela e as minhas nas prateleiras.
Alinhei nossas malas abertas no assoalho do "salão". Ela tinha seis, de tamanhos diferentes. Com as minhas, eram 9, sem contar o baú. Juntei meus velhos jornais
e minhas roupas, mas as coisas dela era mais difícil arrumar e eu descobria um novo vestido, um vidro de perfume ou uma pilha de lenços quando achava que tinha
acabado tudo. O cachorro, sentado no sofá, acompanhava minhas idas e vindas com um olho atento.
Eu não tinha mais força para fechar aquelas malas e desabei numa cadeira. O cachorro tinha pousado o queixo na borda do sofá e me observava dali debaixo. Encaramos
demoradamente um ao outro no branco dos olhos.
O dia estava chegando e uma leve lembrança me veio. Quando tinha eu vivido momento parecido? Eu revia os móveis da décima sexta ou da décima sétima circunscrição
- rua Colonel-Moll, praça Villaret-de-Joyeuse, avenida GénéralBalfourier - onde as paredes tinham o mesmo papel que os quartos do Hermitage, onde as cadeiras e
camas lançavam a mesma desolação ao coração. Ternos lugares, pousos precários, que é sempre preciso evacuar antes que cheguem os alemães e que não guardam qualquer
vestígio seu.
Foi ela quem me acordou. Examinava, de boca aberta, as malas prestes a estourar.
- Por que você fez isso? Sentou-se sobre a mais gorda, de couro grená. Parecia exausta, como se tivesse me ajudado a fazer as malas durante toda a noite. Estava
com a saída de praia entreaberta nos seios.
Então, de novo, em voz baixa, falei da América. Surpreendi-me a escandir as frases e aquilo tornava-se uma melopéia.
Como argumento, contei a ela que o próprio Maurois, o escritor que ela admirava, tinha partido em 40 para a América. Maurois.
139
Maurois. Ela sacudiu a cabeça e me sorriu amavelmente. Estava de acordo. Partiríamos o mais depressa possível. Ela não queria me contrariar. Mas eu devia descansar.
Passou a mão em minha testa.
Eu tinha ainda tantos pequenos detalhes a considerar. Por exemplo, o visto do cachorro.
Ela me escutava sorrindo, sem se mexer. Falei durante horas e horas, e voltavam sempre as mesmas palavras: Algonquin, Brooklyn, companhia geral transatlântica,
Zukor, Goldwyn, Warner Bros, Bella Darvi... Ela ouviu, paciência.
- Você devia dormir um pouco - repetia de vez em quando.
Eu estava esperando. O que é que ela podia estar fazendo? Tinha me prometido estar na estação uma meia hora antes da chegada do expresso para Paris. Assim não
correríamos o risco de perdê-lo. Mas ele acabava de partir outra vez. E eu permanecia de pé, acompanhando o desfile cadenciado dos vagões. Atrás de mim, em volta
de um dos bancos, minhas malas e meu baú estavam dispostos em meio círculo, o baú em posição vertical. Uma luz seca desenhava sombras sobre a plataforma. E eu
sentia aquela impressão de vazio e de estupidez que sucede à passagem de um trem.
No fundo, eu estava ali esperando por mim. Teria sido incrível se as coisas tivessem acontecido de outro modo. Contemplei de novo minha bagagem. Trezentos ou quatrocentos
quilos que eu sempre carregava comigo. Por quê? Com esse pensamento, fui sacudido por uma gargalhada ácida.
O próximo trem viria à meia-noite e seis. Eu tinha mais de uma hora pela frente e saí da estação, deixando minha bagagem na plataforma. Seu conteúdo não interessaria
a ninguém. Além disso, era muito pesada para se deslocar.
Entrei no café em rotunda, ao lado do hotel de Verdun. Ele
140
se chamava dos Cadrans ou do Avenir? Jogadores de xadrez ocupavam as mesas do fundo. Uma porta de madeira marrom se abria para um salão de bilhar. O café era iluminado
por tubos de néon rosa vacilante. Eu ouvia a batida das bolas de bilhar a intervalos muito longos e a saraivada contínua do néon. Nada mais. Nem uma palavra.
Nem um suspiro. Foi em voz baixa que eu pedi uma infusão com hortelã.
De repente, a América me pareceu bastante distante. Albert, o pai de Yvonne, vinha aqui jogar bilhar? Gostaria de saber. Um torpor me tomava e reencontrei naquele
café a calma que tinha conhecido em casa da senhora Buffaz, nos Tilleuls. Por um fenômeno de alternância ou de ciclotimia, um sonho sucedia outro: eu já não me
imaginava com Yvonne na América, mas numa pequena cidade de província que se parecia estranhamente com Bayonne. Sim, morávamos na rua Thiers e nas noites de verão
íamos passear sob as arcadas do teatro ao longo das aléias Boufflers. Yvonne me dava o braço e ouvíamos a batida de bolas de tênis. No domingo à tarde, fazíamos
a volta das muralhas e nos sentávamos sobre um banco do jardim público, perto do busto de Léon Bonnat. Bayonne, cidade de repouso e de doçura, depois de tantos
anos de incerteza. Talvez não fosse tarde demais. Bayonne...
Eu a procurei por toda parte. Tentei achá-la na Sainte-Rose entre as inúmeras pessoas que jantavam e todas as que dançavam. Era uma noite que fazia parte do programa
de festividades da estação: a Noite Cintilante, acho. Sim, cintilante. Em jatos curtos, os confetes inundavam as cabeleiras e espáduas.
Na mesma mesa que ocupavam na noite da taça, reconheci Fossorié, os Roland-Michel, a mulher morena, o diretor do clube de golfe e as duas louras bronzeadas. Em
suma, não saíam do lugar há um mês. Só o penteado de Fossorié tinha mudado: uma primeira onda com brilhantina formava uma espécie de diadema em torno da testa.
Atrás, um buraco. E outra onda, muito ampla, passava bem em cima do crânio e caía em cascata
141
sobre a nuca. Não, eu não sonhava. Eles se levantam e andam para a pista de dança. A orquestra toca um paso doble. Eles se misturam aos outros dançarinos, lá,
sob a chuva de confetes. E aquilo tudo vira e volta em turbilhão e depois se dispersa em minha lembrança. Poeiras.
Uma mão sobre meu ombro. O gerente da casa, o tal Pulli. - Está procurando alguém, senhor Chmara? Ele fala cochichando no meu ouvido.
- Senhorita Jacquet... Yvonne Jacquet... Pronunciei esse nome sem grande esperança. Ele não deve saber de quem é. Tantas caras... Os clientes se sucedem noite
após noite. Se eu mostrasse uma fotografia, a reconheceria, com certeza. É preciso ter sempre consigo fotografias daqueles a quem se ama.
- Senhorita Jacquet? Acaba de sair na companhia do senhor Daniel Hendrickx...
- O senhor acha? Devo ter feito uma cara engraçada, inflando as bochechas, como uma criança a ponto de chorar, porque ele me segurou pelo braço.
- Claro que sim. Na companhia do senhor Daniel Hendrickx.
Ele não dizia "com", mas "na companhia de" e identifiquei nisso um preciosismo de linguagem comum na alta sociedade do Cairo e de Alexandria, quando o francês lá
era de rigor.
- Tomamos um drinque? - Não, tenho que pegar um trem à meia-noite e seis.
- Pois bem, acompanho o senhor à estação, Chmara. Ele me puxa pela manga. Mostra-se familiar, mas também respeitoso. Atravessamos a turba de dançarinos. Ainda
o paso doble. Os confetes agora caem em chuva contínua e me cegam. Eles riem, mexem-se muito a minha volta. Eu me apóio contra Fossorié. Uma das louras bronzeadas,
a que se chama Meg Devillers, pula em meu pescoço:
- Oh, o senhor... o senhor... o senhor... Ela não quer mais me largar. Arrasto-a dois ou três metros.
142
Consigo afinal me livrar. Voltamos a nos encontrar, Pulli e eu, no início da escada. Nossos cabelos e nossos casacos estão crivados de confetes.
- É a Noite Cintilante, Chmara. Ele dá de ombros. Seu carro está estacionado na frente da Sainte-Rose, no meio-fio da estrada do lago. Um Simca Chambord cuja
porta me abre cerimoniosamente.
- Entre neste calhambeque. Ele não dá logo a partida. - Eu tinha um conversível grande no Cairo. E ao léu: - Suas malas, Chmara? - Estão na estação. Rodávamos
há alguns minutos, quando perguntou: - Qual o seu destino? Não respondi. Ele diminuiu a marcha. Não passávamos dos trinta quilômetros por hora. Virou-se para
mim:
- ... As viagens... Permanecia em silêncio. Eu também. - É preciso afinal fixar-se em algum lugar, acabou dizendo. Ai de mim...
Contornávamos o lago. Olhei uma última vez as luzes, as do Veyrier bem na frente, a massa sombria de Carabacel no horizonte, diante de nós. Apertei os olhos para
ver a passagem do funicular. Mas não. Estávamos longe demais.
- O senhor vai voltar aqui, Chmara? - Não sei. - O senhor tem sorte de ir embora. Ah, essas montanhas... Designava a cadeia de Aravis, na distância, que estava
visível ao clarão da lua.
- Sempre se acha que vão lhe cair por cima. Eu me sinto sufocado, Chmara.
Essa confidência vinha diretamente do coração. Emocionou-me, mas eu não tinha força para consolá-lo. Ele era mais velho que eu, afinal.
143
Entramos na cidade seguindo a avenida Maréchal-Leclerc. Nas proximidades, a casa natal de Yvonne. Pulli dirigia perigosamente à esquerda, como os ingleses, mas
por sorte não havia trânsito no outro sentido.
- Estamos adiantados, Chmara. Ele tinha parado o Chambord na praça da Estação, na frente do hotel de Verdun.
Atravessamos o saguão deserto. Pulli nem precisou pegar um tíquete de plataforma. A bagagem continuava no mesmo lugar.
Sentamo-nos no banco. Mais ninguém, além de nós. O silêncio, a tepidez do ar, a iluminação tinham algo de tropical.
- É engraçado - constatou Pulli -, parece que estamos numa estaçãozinha de Ramleh...
Ele me ofereceu um cigarro. Fumamos gravemente, sem nada dizer. Acredito que cheguei a fazer, como desafio, umas argolas de fumaça.
- A senhorita Yvonne Jacquet saiu mesmo com o senhor Daniel Hendrickx? - perguntei numa voz calma.
- Saiu, mas por quê? Ele alisou o bigode preto. Suspeitei de que queria me dizer algo muito sentido e decisivo, mas não saiu. Sua testa se enrugava. Gotas de suor
com certeza lhe iriam correr pelas têmporas. Consultou seu relógio. Meia-noite e dois. Então, num esforço:
- Eu podia ser seu pai, Chmara... Escute-me... O senhor tem a vida pela frente... E preciso ter coragem...
Ele virava a cabeça para a esquerda, para a direita, para ver se o trem chegava.
- Eu mesmo, na minha idade... Evito olhar para o passado... Tento esquecer o Egito...
O trem entrava na estação. Ele o acompanhava com os olhos. Hipnotizado.
Quis me ajudar a subir a bagagem. Ia me passando as malas e eu as arrumava no corredor do vagão. Uma. Depois duas. Depois três.
144
Tivemos muita dificuldade com o baú. Ele deve ter distendido um músculo levantando e empurrando-o na minha direção, mas fazia aquilo com uma espécie de frenesi.
O empregado bateu as portinholas. Desci o vidro e me debrucei para fora. Pulli me sorriu.
- Não esqueça o Egito e boa sorte, old sport... Essas duas palavras em inglês em sua boca me surpreenderam. Ele agitava o braço. O trem se sacudia. Ele se deu conta
de repente de que tínhamos esquecido uma de minhas malas, de forma circular, perto do banco. Levantou-a, pôs-se a correr. Tentava alcançar o vagão. Afinal parou,
ofegante, e fez para mim um largo gesto de impotência. Estava com a mala na mão e se mantinha muito ereto debaixo das luzes da plataforma. Dirse-ia uma sentinela
que diminuía, diminuía. Um soldado de chumbo.
Uma pequena cidade da província francesa, à beira de um lago e próxima à Suíça.
É nessa estação de termas que, aos 18 anos, o narrador, um apátrida, veio se refugiar, para escapar de uma ameaça que sentia pairar a sua volta e combater osentimento de insegurança e pânico. Medo de uma guerra, de catástrofe iminente? Medo do mundo exterior? Ele se escondia, pois, no início daquele mês de julho, em meio a uma multidão de veranistas, quando conheceu dois seres de aparência misteriosa que o iriam arrastar.
Vila triste é a evocação, pelo narrador, daquele verão de quase 15 anos atrás e das figuras de Yvonne Jacquet e René Meinthe, em torno das quais passam, como pirilampos, Daniel Hendrickx, Pulli, Fossorié, Rolf Madéja e muitos outros. Ele tenta fazer reviver os rostos, a fragilidade dos instantes, as atmosferas daquela estação já distante. Mas tudo desfila e se desvela como se visto através do vidro de um trem, como a lembrança de uma miragem e de um cenário de papelão, perpassados por uma música em que se entrecruzam diversos temas: o desarraigado que em vão busca ligações, o tempo que passa e a juventude perdida.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VILA_TRISTE.jpg
I
Eles destruíram o hotel de Verdun. Era um prédio curioso, diante da estação, orlado por uma varanda cuja madeira apodrecia. Comerciantes em viagem vinham dormir
ali entre dois trens. Tinha a reputação de um hotel de passagem. O café vizinho, em forma de rotunda, também desapareceu. Chamava-se café dos Cadrans ou do Avenir?
Entre a estação e os gramados da praça Albert I havia agora um grande vazio.
A rua Royale, em si, não mudou, mas por causa do inverno e da hora tardia, tem-se a impressão, ao percorrê-la, de se atravessar uma cidade morta. Vitrines da livraria
Chez Clément Marot, de Horowitz, o joalheiro, Deauville, Genève, Le Touquet e da confeitaria inglesa Fidel-Berger... Mais longe, o salão de cabeleireiros René
Pigault. Vitrines de Henry à la Pensée. A maioria dessas lojas de luxo fecha fora da estação. Quando começam as arcadas, se vê brilhar, no fundo, à esquerda, o
néon vermelho e verde do Cintra. Na calçada oposta, na esquina da rua Royale e da praça do Pâquier, a Taverne, que a juventude freqüentava durante o verão. Ainda
é a mesma clientela hoje?
Nada mais resta do grande café, de seus lustres, de seus espelhos e das mesas com guarda-sóis que transbordavam pela calçada. Em torno de oito horas da noite,
eram idas e vindas de
mesa em mesa, grupos que se formavam. Gargalhadas. Cabelos louros. Tilintar de copos. Chapéus de palha. De vez em quando uma saída de praia acrescentava sua nota
sarapintada. Preparavam-se as festividades da noite.
À direita, lá embaixo, o Casino, uma construção branca e compacta, que só abre de junho a setembro. No inverno, a burguesia local joga bridge duas vezes por semana
na sala de bacará e o grill-room serve de local de reunião do Rotary Club da província. Atrás, o parque de Albigny desce num suave declive até o lago com seus
salgueiros-chorões, seu quiosque com música e o embarcadouro onde se toma o barco vetusto que faz ida-evolta entre as pequenas localidades à beira da água: Veyrier,
Chavoires, Saint-Jorioz, Éden-Roc, Port-Lusatz... Enumerações demais. Mas é preciso cantarolar certas palavras, incansavelmente, como cantiga de ninar.
Segue-se a avenida de Albigny, orlada de plátanos. Ela acompanha o lago e no momento em que se curva para a direita, distingue-se um portão de madeira branca: a
entrada do Sporting. De cada lado de uma aléia de cascalho, diversas quadras de tênis. Em seguida, basta fechar os olhos para lembrar da longa fileira de cabines
e da praia de areia que se estende por cerca de trezentos metros. No plano de fundo, um jardim inglês em torno do bar e do restaurante do Sporting, instalados
num antigo laranjal. Aquilo tudo forma quase uma ilha, que por volta de 1900 pertencia ao fabricante de automóveis GordonGramme.
Na altura do Sporting, do outro lado da avenida de Albigny, começa o bulevar Carabacel. Ele sobe, num cordão, até os hotéis Hermitage, Windsor e Alhambra, mas se
pode também pegar o funicular. No verão, funciona até meia-noite e se espera por ele numa pequena estação que tem o aspecto exterior de um chalé. Aqui, a vegetação
é mista e já não sabemos se estamos nos Alpes, na borda do Mediterrâneo ou mesmo nos trópicos. Pinheiros guarda-sóis. Mimosas. Abetos. Palmeiras. Seguindo o bulevar
pelo flanco da colina, descobre-se o panorama: o lago
10
inteiro, a cadeia de Aravis e, do outro lado da água, aquele país fugidio que se chama Suíça.
O Hermitage e o Windsor abrigam apenas apartamentos mobiliados. Não destruíram, porém, a porta rotativa do Windsor e a vidraça que prolongava o saguão do Hermitage.
Lembrem-se: ela era tomada de buganvílias. O Windsor datava dos anos 1910 e sua fachada branca tinha o mesmo aspecto de merengue que as do Ruhl e do Negresco em
Nice. O Hermitage, de cor ocre, era mais sóbrio e mais majestoso. Lembrava o hotel Royal de Deauville. Sim, como um irmão gêmeo. Foram mesmo convertidos em apartamentos?
Luz alguma nas janelas. Seria preciso ter a coragem de atravessar os saguões escuros e galgar as escadarias. Talvez então se percebesse que ninguém mora aqui.
O Alhambra, esse, foi arrasado. Mais nenhum vestígio dos jardins que o cercavam. Eles vão, com certeza, construir um hotel moderno em seu lugar. Um breve esforço
de memória: no verão, os jardins do Hermitage, do Windsor e do Alhambra muito se aproximavam da imagem que se pode ter do éden perdido ou da terra prometida.
Mas em qual dos três havia aquele imenso canteiro de dálias e aquela balaustrada onde as pessoas se apoiavam para olhar o lago, lá embaixo? Pouco importa. Teremos
sido as últimas testemunhas de um mundo.
É muito tarde, inverno. Distingue-se mal, do outro lado do lago, as luzes molhadas da Suíça. Da vegetação luxuriante de Carabacel, restam apenas algumas árvores
mortas e tufos mirrados. As fachadas do Windsor e do Hermitage estão negras e como que calcinadas. A cidade perdeu seu verniz cosmopolita e veranil. Reduziu-se
às dimensões de uma capital de província. Uma cidadezinha escondida no fundo da província francesa. O tabelião e o subprefeito jogam bridge no Casino desativado.
Madame Pigault igualmente, a diretora do salão de cabeleireiros, quarentona loura e perfumada de Shocking. Ao lado dela, Fournier filho, cuja família tem três fábricas
de têxteis em Faverges, e Servoz, dos laboratórios farmacêuticos de Chambéry, excelente jogador de golfe. Parece que a senhora Servoz, morena
como a senhora Pigault é loura, circula sempre ao volante de uma BMW entre Genebra e sua vila em Chavoires, e gosta muito de gente nova. É freqüentemente vista
com Pimpin Lavorel. E poderíamos dar mil outros detalhes igualmente insípidos, igualmente constrangedores sobre a vida cotidiana dessa pequena cidade, porque as
coisas e as pessoas com certeza não mudaram em 12 anos.
Os cafés estão fechados. Uma luz cor-de-rosa se filtra através da porta do Cintra. Querem que entremos para verificar se os lambris de acaju não mudaram, se a lâmpada
do abajur escocês está no lugar, do lado esquerdo do bar? Não retiraram as fotografias de Émile Allais, tiradas em Engelberg quando ele trouxe o campeonato mundial.
Nem as de James Couttet. Nem a foto de Daniel Hendrickx. Estão alinhadas por cima das filas de aperitivos. Amarelaram, é claro. E na semipenumbra, o único cliente,
um homem afogueado, usando um casaco xadrez, bolina distraidamente a garçonete. Ela tinha uma beleza ácida no início dos anos sessenta, mas depois, ficou pesada.
Ouve-se o barulho dos próprios passos na rua Sommeiller deserta. À esquerda, o cinema Régent continua idêntico a si mesmo: sempre esse reboco cor de laranja e
as letras Régent em caracteres ingleses de cor granada. Eles deviam pelo menos modernizar a sala, mudar as poltronas de madeira e os retratos Harcourt das vedetes
que decoravam a entrada. A praça da Estação é o único local da cidade onde brilham algumas luzes e onde ainda reina um pouco de animação. O expresso para Paris
passa à meia-noite e seis. Os soldados em licença da caserna Berthollet chegam em pequenos grupos ruidosos, com a mala de metal ou papelão na mão. Alguns cantam
Meu belo pinheiro: a aproximação do Natal, sem dúvida. Na plataforma n22 eles se aglutinam, se dão tapas nas costas. Dir-se-ia que partem para ofront. Em meio
a todos aqueles capotes militares, um terno civil de cor bege. O homem que o veste não parece padecer de frio; tem em volta do pescoço um lenço de seda verde,
que aperta com a mão nervosa. Ele vai de grupo em grupo,
12
vira a cabeça da esquerda para a direita com uma expressão esgazeada, como se procurasse um rosto no meio daquela multidão. Ele acaba de interrogar um militar,
mas este e seus dois companheiros o inspecionam dos pés à cabeça, zombeteiros. Outros soldados se voltaram e assobiam a sua passagem. Ele finge não prestar atenção
alguma e mordisca uma piteira. Agora, encontra-se à parte, em companhia de um jovem caçador alpino todo louro. Este parece aborrecido e de vez em quando lança
olhares
furtivos a seus camaradas. O outro se apóia sobre seu ombro e lhe sussurra alguma coisa ao ouvido. O jovem caçador alpino tenta libertar-se. Então, ele lhe passa
um envelope para o bolso do casacão, olha-o sem nada dizer e, como começa a nevar, levanta a gola do casaco.
Esse homem se chama René Meinthe. Leva bruscamente a mão esquerda à testa, e lá a deixa, feito viseira, gesto que lhe era familiar, há 12 anos. Como envelheceu...
O trem chegou à estação. Eles entram de assalto, acotovelam-se pelos corredores, descem os vidros, passam as malas. Alguns cantam É apenas um adeus..., mas a maioria
prefere urrar Meu belo pinheiro... Neva mais forte. Meinthe se mantém de pé, imóvel, com a mão na testa. O jovem lourinho, detrás do vidro, examina-o com um sorriso
um tanto mau no canto dos lábios. Toca no boné de caçador alpino. Meinthe lhe faz um sinal. Os vagões desfilam levando as pencas de militares a cantar e agitar
os braços.
Ele afundou as mãos nos bolsos do casaco e se dirige para o restaurante da estação. Os dois garçons arrumam as mesas e varrem à volta delas com largos gestos indolentes.
No bar, um homem de impermeável arruma os últimos copos. Meinthe pede um conhaque. O homem lhe responde num tom seco que não está mais servindo. Meinthe pede
de novo um conhaque.
- Aqui - responde o homem, arrastando as sílabas - não servimos bichas.
E os outros dois, atrás, caíram na gargalhada. Meinthe não se mexe, fixa um ponto diante de si, com ar cansado. Um dos
13
garçons apagou os apliques da parede esquerda. Resta somente uma zona de luz amarelada, em volta do bar. Eles esperam de braços cruzados. Vão quebrar a cara dele?
Quem sabe? Talvez Meinthe vá bater com a palma da mão no balcão gorduroso e gritar: " Sou a rainha Astrid, a RAINHA DOS BELGAS!", com a inclinação e o riso insolente
de outrora.
O que fazia eu aos 18 anos à beira desse lago, nessa famosa estação termal. Nada. Morava numa pensão familiar, dos Tilleuls, no bulevar Carabacel. Eu poderia ter
escolhido um quarto na cidade, mas preferia me ver nas alturas, a dois passos do Windsor, do Hermitage e do Alhambra, cujo luxo e densos jardins me davam segurança.
Eu morria de medo, sentimento que depois nunca me deixou; mas era bem mais vivo e irracional naquela época. Eu tinha fugido de Paris com a idéia de que aquela cidade
tornavase perigosa para pessoas como eu. Lá reinava um ambiente policial desagradável. Ataques demais para meu gosto. Bombas explodiam. Eu gostaria de dar uma precisão
cronológica e, uma vez que os melhores pontos de referência são as guerras, de que guerra, de fato, se tratava? Da que se chamava Argélia, bem no início dos anos
sessenta, época em que se andava de carro conversível na Flórida e as mulheres se vestiam mal. Os homens também. Eu, tinha medo, mais ainda do que hoje e tinha
escolhido esse lugar como refúgio porque estava situado a cinco quilômetros da Suíça. Bastava atravessar o lago, ao menor alarme. Em minha ingenuidade, eu acreditava
que quanto mais a gente se aproxima da Suíça mais chances tem de escapar. Eu ainda não sabia que a Suíça não existe.
A "estação" tinha começado em 15 de junho. As galas e festividades iam se suceder. Jantar dos "Embaixadores" no Casino. Turnê de canto de Georges Ulmer. Três apresentações
de Escutem bem, senhores. Fogos de artificio no 14 de julho, lançados do golfo de Chavoires, balés do marquês de Cuevas e outras coisas ainda que me retornariam
à memória se eu tivesse à mão o programa editado pelo departamento de turismo. Conservei-o e estou certo de tê-lo encontrado entre as páginas de um dos livros
que li este ano. Qual? Fazia um tempo "soberbo" e os freqüentadores previam sol até outubro.
Só muito raramente eu ia tomar banho. Em geral, passava meus dias no saguão e nos jardins do Windsor e acabava me convencendo de que ali, pelo menos, não me expunha
a risco algum. Quando o pânico me tomava - uma flor que abria lentamente suas pétalas, um pouco acima do umbigo - eu olhava a minha frente, para o outro lado do
lago. Dos jardins do Windsor, percebia-se um vilarejo. Cinco quilômetros, se tanto, em linha reta. Poder-se-ia vencer essa distância a nado. À noite, com uma
pequena lancha a motor, levaria uns vinte minutos. Mas é claro. Eu tentava me acalmar. Cochichava, articulando as sílabas: "À noite, com uma pequena lancha a motor..."
Ficava tudo melhor, eu retomava a leitura de meu romance ou de uma revista inofensiva (tinha me proibido de ler jornais e ouvir noticiários no rádio. Toda vez que
ia ao cinema, tinha o cuidado de chegar depois das Atualidades). Não, acima de tudo, nada saber sobre a sorte do mundo. Não agravar esse medo, esse sentimento de
catástrofe iminente. Interessar-se apenas pelas coisas anódinas: moda, literatura, cinema, music-hall. Esticar-se nas grandes espreguiçadeiras, fechar os olhos,
relaxar, acima de tudo relaxar. Esquecer.
Por volta do fim da tarde, eu descia à cidade. Avenida de Albigny, sentava-me num banco e acompanhava a agitação à borda do lago, o tráfego dos pequenos veleiros
e pedalinhos. Era reconfortante. Por cima, as folhas dos plátanos me protegiam. Eu seguia meu caminho a passos lentos e precavidos. Praça
16
do Pâquier, sempre escolhia uma mesa recuada na varanda da Taverne e pedia sempre Campari com soda. E contemplava toda aquela juventude a minha volta, à qual,
aliás, eu pertencia. Eram em número cada vez maior, à medida que a hora passava. Ainda escuto seus risos, lembro os topetes jogados nos olhos. As meninas usavam
calças pescador e shorts de vichy. Os meninos não desprezavam o blazer com escudo e o colarinho da camisa aberto com um lenço. Usavam cabelo curto, o chamado corte
"Rond-Point". Preparavam suas festas. As meninas chegavam com vestidos apertados na cintura, muito rodados, e sapatilhas. Esperta e romântica juventude que mandariam
para a Argélia. Eu não.
Às oito horas, eu voltava para jantar na casa dos Tilleuls. Aquela pensão familiar, cujo exterior, em minha opinião, lembrava um pavilhão de caça, recebia, todo
verão, uma dezena de freqüentadores. Todos eles tinham ultrapassado os sessenta e minha presença, inicialmente, os irritava. Mas eu respirava muito discretamente.
Com uma grande economia de gestos, um olhar voluntariamente terno, um rosto congelado - bater o menos possível as pálpebras - esforçava-me para não agravar uma
situação já precária. Eles perceberam minha boa vontade e acho que acabaram me vendo com melhores olhos.
Fazíamos as refeições numa sala de jantar em estilo saboiano. Eu teria podido iniciar uma conversa com meus vizinhos mais próximos, um velho casal bem cuidado que
vinha de Paris, mas por certas alusões, achei ter escutado que o homem era ex-inspetor de polícia. Os outros jantavam também aos casais, exceto um senhor de bigode
fino e cara de cocker spaniel, que dava a impressão de ter sido abandonado ali. Pelo zunzum das conversas, eu o escutava às vezes soltar breves soluços que pareciam
latidos. Os hóspedes passavam para o salão e se sentavam suspirando nas poltronas estofadas de cretone. A senhora Buffaz, proprietária dos Tilleuls, servia uma infusão
ou um digestivo qualquer. As mulheres falavam entre si. Os homens jogavam uma partida de canastra. O senhor com cara de
17
cachorro acompanhava a partida, sentado recuadamente, depois de ter tristemente acendido um havana.
E eu ficaria de boa vontade ali com eles, na luz doce e tranqüilizante das lâmpadas do abajur de seda rosa-salmão, mas teria sido necessário lhes falar ou jogar
canastra. Será que aceitariam que eu estivesse lá, sem nada dizer, olhando-os? Eu descia outra vez à cidade. Às nove horas e 15 minutos, precisamente - logo depois
das Atualidades - entrava na sala do cinema Régent ou então optava pelo cinema do Casino, mais elegante e mais confortável. Encontrei um programa do Régent que
data daquele verão.
CINEMA RÉGENT
De 15 a 23 de junho: Terna e violenta Elisabeth de H. Decoin De 24 a 30 de junho: Ano passado em Marienbad de A. Resnais De 12 a 8 de julho: R.P.Z. chama Berlim
de R. Habib De 9 a 16 de julho: O testamento de Orfeu de J. Cocteau De 17 a 24 de julho: O capitão Bamba de P. Gaspard-Huit De 25 de julho a 2 agosto: Quem
é o senhor, Sorge? de Y. Ciampi De 3 a 10 de agosto: A noite de M. Antonioni De lia 18 de agosto: O mundo de Suzie Wong De 19 a 26 de agosto: O círculo vicioso
de M Pecas De 27 de agosto a 3 de setembro: O bosque dos amantes de C. Autant-Lara.
Eu reveria de bom grado algumas cenas desses velhos filmes.
Depois do cinema, ia de novo beber um Campari na Taverne. Os jovens já tinham desertado. Meia-noite. Deviam estar dançando em algum lugar. Eu observava aquelas
cadeiras todas, as mesas vazias e os garçons que punham para dentro os guarda-sóis. Fixava o grande jato d'água luminoso do outro lado da praça, diante da entrada
do Casino. Ele mudava de cor sem cessar. Eu me divertia contando quantas vezes virava verde. Um passatempo, como outro qualquer, não é ? Uma vez, duas vezes,
três vezes. Quando chegava ao número 53, eu me levantava. Mas, na maior parte das vezes, nem me dava o trabalho de fazer essa brincadeira. Eu cismava, bebendo pequenos
goles mecânicos. Lembram-se de Lisboa durante a guerra? Todos aqueles sujeitos abatidos nos bares e no saguão do hotel Aviz, com malas e baús, esperando um navio
que não viria? Pois bem, eu tinha a impressão, vinte anos depois, de ser um deles.
As raras vezes em que usava meu terno de flanela e minha única gravata (gravata azul-noite semeada de flores-de-lis que um americano me deu em cujo avesso estavam
bordadas as palavras "International Bar Fly". Fiquei sabendo mais tarde que se tratava de uma sociedade secreta de alcoólatras. Graças a essa gravata podiam reconhecer
uns aos outros e prestar pequenos favores), acontecia de eu entrar no Casino e ficar alguns minutos no umbral do Brummel para ver o pessoal dançando. Eles tinham
entre trinta e sessenta anos, e se notava, às vezes, uma menina mais nova em companhia de um esbelto qüinquagenário. Clientela internacional, bastante "chique"
e que ondulava com os sucessos italianos ou acordes do calipso, aquela dança da Jamaica. Em seguida, eu subia até o salão de jogos. Às vezes assistíamos a grandes
apostas. Os jogadores mais faustosos vinham da Suíça tão próxima. Lembro-me de um egípcio muito tenso, de cabelo ruivo lustroso e olhos de gazela, que acariciava
pensativamente com o indicador seu bigode de major inglês. Ele jogava fichas de cinco milhões e diziam-no primo do rei Faruk.
19
Sentia alívio de me encontrar outra vez ao ar livre. Voltava lentamente na direção de Carabacel pela avenida de Albigny. Nunca tinha visto noites tão belas, tão
límpidas, como naquela época. As luzes das vilas à beira do lago tinham uma cintilação que ofuscava os olhos e nelas eu ouvia alguma coisa de musical, um solo
de saxofone ou de trumpete. Eu percebia também, muito leve, imaterial, o farfalhar dos plátanos da avenida. Esperava o último funicular sentado no banco de ferro
do chalé. A sala era iluminada apenas por uma vigia e eu me permitia deslizar, com uma sensação de confiança total, para dentro daquela penumbra violácea. O que
eu podia temer? O ruído das guerras, o fragor do mundo, para chegar até aquele oásis de férias, tinham que atravessar uma parede acolchoada. E quem teria a idéia
de vir me procurar entre os distintos veranistas?
Eu descia na primeira estação: Saint-Charles-Carabacel e o funicular continuava subindo, vazio. Parecia um verme gordo brilhante.
Eu atravessava o corredor dos Tilleuls na ponta dos pés, depois de ter tirado os mocassins, pois os velhos têm o sono leve.
20
Ela estava sentada no saguão do Hermitage, num dos grandes sofás do fundo e não tirava os olhos da porta rotativa, como se esperasse por alguém. Eu ocupava uma
poltrona a dois ou três metros dela, e a via de perfil.
Cabelo acobreado. Vestido de xantungue verde. E os sapatos de salto agulha que as mulheres usavam. Brancos.
Um cachorro estava deitado aos pés dela. Ele bocejava e se espreguiçava de vez em quando. Um dogue alemão, imenso e linfático com manchas pretas e brancas. Verde,
ruivo, branco, preto. Essa combinação de cores me causava uma espécie de entorpecimento. Como fiz para me ver ao lado dela, no sofá? Quem sabe o dogue alemão
tenha servido de intermediário, ao vir, em seu andar preguiçoso, cheirar-me?
Reparei que ela tinha os olhos verdes, manchas muito ligeiras de rubor e que era um pouco mais velha do que eu.
Passeamos naquela manhã nos jardins do hotel. O cachorro abria o cortejo. Seguíamos uma aléia recoberta por uma cúpula de clematites com grandes flores cor de malva
e azuis. Eu afastava as folhagens em cachos dos cítisos; bordejávamos gramados e moitas de alfena. Havia - se minha memória for boa - plantas de pedrinhas em tons
de geada, espinheiros cor-de-
21
rosa, uma escada ladeada de bacias vazias. E o imenso canteiro de dálias amarelas, vermelhas e brancas. Debruçamo-nos na balaustrada e olhamos o lago, embaixo.
Nunca pude saber exatamente o que ela tinha pensado de mim durante esse primeiro encontro. Talvez me tenha tomado por um rapaz de família milionário que se entediava.
O que a divertiu, em todo caso, foi o monóculo que eu usava no olho direito para ler, não por dandismo ou afetação, mas porque eu via muito menos com esse olho
que com o outro.
Não falamos. Ouço o murmúrio de um esguicho d'água que gira, no meio do gramado mais próximo. Alguém desce a escada em nosso encalço, um homem, cujo terno amarelo
pálido distingui de longe. Ele nos faz um aceno com a mão. Está de óculos escuros e enxuga a testa. Ela me apresenta a ele pelo nome de René Meinthe. Ele logo
retifica: "doutor Meinthe", ressaltando as duas sílabas da palavra doutor. E afeta um sorriso. Devo me apresentar, por minha vez: Victor Chmara. É o nome que escolhi
para preencher minha ficha de hotel em casa dos Tilleuls.
- O senhor é amigo da Yvonne? Ela responde que acaba de me conhecer no saguão do Hermitage e que leio com monóculo. Decididamente, isso muito a diverte. Ela me
pede que eu ponha o monóculo para mostrálo ao doutor Meinthe. Faço-o. "Muito bem", diz Meinthe, balançando a cabeça com ar pensativo.
Então ela se chamava Yvonne. Mas e o sobrenome? Esqueci. Bastam, portanto, 12 anos, para a gente esquecer o estado civil das pessoas que foram importantes em nossa
vida. Era um nome suave, muito francês, algo parecido com Coudreuse, Jacquet, Lebon, Mouraille, Vincent, Gerbault...
René Meinthe, à primeira vista, era mais velho do que nós. Em torno de trinta anos. De estatura mediana, tinha um rosto redondo e nervoso e os cabelos louros puxados
para trás.
22
Tornamos a ganhar o hotel atravessando uma parte do jardim que eu não conhecia. As aléias de cascalho eram aí retilíneas, os gramados simétricos e cortados à inglesa.
Em volta de cada um deles flutuavam platibandas de begônias ou gerânios. E sempre o doce, reconfortante murmúrio dos jatos d'água que regavam o canteiro. Pensei
nas Tulherias de minha infância. Meinthe nos propôs tomar um drinque e depois almoçar no Sporting.
Minha presença lhes parecia completamente natural e se poderia jurar que nos conhecíamos desde sempre. Ela me sorria. Falávamos de coisas insignificantes. Eles
não me faziam nenhuma pergunta, mas o cachorro punha a cabeça contra meus joelhos e me observava.
Ela se levantou dizendo que ia buscar um lenço no quarto. Então estava hospedada no Hermitage? O que fazia aqui? Quem era ela? Meinthe tinha tirado do bolso uma
piteira e mordiscava. Então notei que era cheio de tiques. A longos intervalos, a maçã esquerda do rosto crispava-se como se tentasse segurar um monóculo invisível,
mas os óculos escuros escondiam pela metade esse tremor. Às vezes esticava o queixo para a frente e poder-se-ia imaginar que estava provocando alguém. Por fim,
seu braço direito de vez em quando era sacudido por uma descarga elétrica que se comunicava à mão e esta traçava arabescos no ar. Todos esses tiques se coordenavam
entre si de uma maneira muito harmoniosa e conferiam a Meinthe uma elegância inquieta.
- O senhor está de férias? Eu respondi que sim. E tinha sorte de estar fazendo um tempo tão "ensolarado". E eu achava aquele lugar de férias "paradisíaco".
- É a primeira vez que o senhor vem? Não conhecia? Percebi uma ponta de ironia em sua voz e me permiti lhe perguntar por minha vez se ele próprio passava as férias
aqui. Ele hesitou.
- Oh, não exatamente. Mas conheço este lugar há muito
23
tempo... - Estendeu o braço casualmente na direção de um ponto no horizonte e, numa voz frouxa:
- As montanhas... O lago... O lago... Tirou os óculos escuros e pousou sobre mim um olhar doce e triste. Sorria.
- Yvonne é uma menina maravilhosa - disse ele. Ma-ra-vi-lho-sa.
Ela andava na direção de nossa mesa, com um lenço de musselina verde amarrado em volta do pescoço. Ela me sorria e não tirava os olhos de mim. Alguma coisa se
dilatava do lado esquerdo de meu peito, e decidi que aquele era o dia mais lindo de minha vida.
Entramos no automóvel de Meinthe, um velho Dodge creme, conversível. Sentamo-nos os três no banco da frente, Meinthe ao volante, Yvonne no meio e o cachorro atrás.
Ele deu a partida brutalmente, o Dodge derrapou no cascalho e quase esfolou o portão do hotel. Seguimos lentamente o bulevar Carabacel. Eu não escutava mais o
barulho do motor. Meinthe o tinha cortado para descer na banguela? Os pinheiros guardasóis. dos dois lados da estrada, cortavam os raios de sol e isso produzia
um jogo de luzes. Meinthe assobiava, eu me deixava embalar por um ligeiro balanço e a cabeça de Yvonne pousava a cada curva sobre meu ombro.
No Sporting, estávamos a sós na sala do restaurante, aquele antigo laranjal protegido do sol por um salgueiro-chorão e tufos de rododendros. Meinthe explicava
a Yvonne que tinha de ir a Genebra e voltaria à noite. Pensei que eram irmãos. Mas não. Não se pareciam nada.
Um grupo de umas 12 pessoas entrou. Escolheram a mesa vizinha a nossa. Vinham da praia. As mulheres vestiam marinheiras em tecido de espuma colorido, os homens,
roupões de banho. Um deles, mais alto e mais atlético do que os outros, com o cabelo louro ondulado, falava alto. Meinthe tirou os óculos
24
escuros. Ficou muito pálido, de repente. Apontou o louro alto com o dedo e uma voz superaguda, quase num assobio:
- Aí, lá está a Carlton... A maior POR-CA-LHO-NA da região...
O outro fez que não ouviu, mas seus amigos viraram-se para nós, de boca aberta.
Entendeu o que eu disse, a Carlton? Durante alguns segundos, fez-se um silêncio absoluto na sala do restaurante. O louro atlético estava de cabeça baixa. Seus
vizinhos, petrificados. Yvonne, ao contrário, não tinha se mexido, como se estivesse habituada a tais incidentes.
- Não tenha medo - sussurrou Meinthe, inclinando-se em minha direção -, não é nada, absolutamente nada...
Seu rosto tinha ficado liso, infantil, não se notava nem mais um tique. Retomamos a conversa e ele perguntou a Yvonne o que queria que ele lhe trouxesse de Genebra.
Chocolate? Cigarros turcos?
Ele nos deixou diante da entrada do Sporting, dizendo que poderíamos nos reencontrar por volta das nove horas da noite, no hotel. Yvonne e ele falaram de um tal
de Madeja (ou Madeya), que estava organizando uma festa, numa vila, à beira do lago.
- O senhor vem conosco, hein? - perguntou Meinthe. Eu o olhava caminhar em direção ao Dodge e ele avançava por meio de sucessivas sacudidelas elétricas. Ele deu
a partida, como da primeira vez, cantando pneu e, mais uma vez, o automóvel roçou o portão antes de desaparecer. Ele erguia o braço para nós, sem virar a cabeça.
Eu estava sozinho com Yvonne. Ela me propôs dar uma volta nos jardins do Casino. O cachorro andava na frente, cada vez mais mole. Às vezes, sentava-se no meio
da aléia e era preciso gritar seu nome, "Oswald", para que consentisse em seguir caminho. Ela me explicou que não era a preguiça, mas a
25
melancolia que lhe dava aquele ar casual. Ele pertencia a uma variedade muito rara de dogues alemães, todos tomados de uma tristeza e de um tédio vital congênitos.
Alguns chegavam a se suicidar. Eu quis saber por que tinha escolhido um cachorro de humor tão sombrio.
- Porque são mais elegantes que os outros - explicou ela com vivacidade.
Logo pensei na família dos Habsburgos, que tinha contado entre suas fileiras certos seres delicados e hipocondríacos como aquele cão. Punha-se aquilo na conta dos
casamentos consangüíneos e chamavam seu estado depressivo de "melancolia portuguesa".
- Esse cachorro - disse eu - sofre de "melancolia portuguesa". - Mas ela não ouviu.
Chegamos diante do embarcadouro. Umas dez pessoas subiam a bordo do Amiral-Guisand. Tiravam o passadiço. Apoiadas na rede de proteção, crianças agitavam as mãos,
gritando. O barco se distanciava e tinha um charme colonial e decaído.
- Uma tarde - disse Yvonne - teremos que andar nesse barco. Vai ser divertido, você não acha?
Ela me chamava de você pela primeira vez, e tinha dito essa frase com um entusiasmo inexplicável. Quem era ela? Eu não ousava perguntar.
Nós seguimos a avenida de Albigny e as folhagens dos plátanos nos ofereciam suas sombras. Estávamos sozinhos. O cão nos antecedia uns vinte metros. Ele já nada
tinha de sua languidez habitual, e andava de modo altivo, com a cabeça erguida, fazendo às vezes umas viradas bruscas e desenhando movimentos de quadrilha, à
maneira dos cavalos de carrossel.
Sentamo-nos à espera do funicular. Ela pousou a cabeça em meu ombro e eu experimentei a mesma vertigem que tinha sentido quando descíamos de carro o bulevar Carabacel.
Ainda a ouvir dizer: "Uma tarde... andar... barco... divertido, você não acha?", com seu sotaque indefinível, que eu me questionava se era húngaro, inglês ou
saboiano. O funicular subia lentamente e
26
a vegetação, dos dois lados da via, parecia cada vez mais densa. Ela ia nos engolir. Os cachos de flores se amassavam de encontro aos vidros e, de vez em quando,
uma rosa ou um galho de alfena era levado na passagem.
Em seu quarto, no Hermitage, a janela estava entreaberta e eu ouvia a batida regular das bolas de tênis, as exclamações distantes dos jogadores. Se ainda existiam
gentis e reconfortantes imbecis de roupa branca lançando bolas por cima de uma rede, isso queria dizer que a terra continuava girando e que tínhamos algumas horas
de prazo.
Sua pele estava semeada de manchas de rubor muito leves. Combatia-se na Argélia, ao que parecia.
A noite. E Meinthe que nos esperava no saguão. Vestia um terno de linho branco e um lenço turquesa impecavelmente amarrado em torno do pescoço. Ele tinha trazido
cigarros de Genebra e insistia que experimentássemos. Mas nós não tínhamos nem um instante a perder - dizia ele - senão estaríamos atrasados para a casa de Madeja
(ou Madeya).
Dessa vez, descemos com toda pressa o bulevar Carabacel. Meinthe, com a piteira nos lábios, acelerava nas curvas, e ignoro por que milagre chegamos sãos e salvos
à avenida de Albigny. Voltei-me para Yvonne e fiquei surpreso pois seu rosto não exprimia medo algum. Cheguei a ouvi-la rir num momento em que o automóvel deu
um giro.
Quem era esse Madeja (ou Madeya) a cuja casa estávamos indo? Meinthe me explicou que se tratava de um cineasta austríaco. Ele acabava de rodar um filme na região
- exatamente em La Clusaz - uma estação de esqui, a vinte quilômetros de distância, e Yvonne tinha atuado nele. Meu coração bateu.
- A senhora faz cinema? - perguntei a ela. Ela riu.
27
- Yvonne vai se tornar uma grande atriz - declarou Meinthe, apertando fundo o acelerador.
Ele falava a sério? A-triz de ci-ne-ma. Talvez eu já tivesse visto a fotografia dela na Cinémonde ou naquele Anuário do cinema, descoberto no fundo de uma velha
livraria de Genebra e que eu folheava durante minhas noites de insônia. Acabei gravando o nome e o endereço dos atores e "técnicos". Hoje alguns fragmentos me
vêm à memória:
JUNTE ASTOR: Fotografia Bernard e Vauclair. Rua BuenosAyres, 1- Paris - VIP.
SABINE GuY: Fotografia Teddy Piaz. Comédia - Turnê de canto - Dança.
Filmes: Os clandestinos..., Os velhinhos fazem a lei... Senhorita Catástrofe..., A polca das algemas... Bom dia, doutor etc.
GORDINE (FILMES SACHA): Rua Spontini, 19 - Paris - XVI KLE. 77-94. Sr. Sacha Gordine, GER.
Yvonne tinha um "nome de cinema" que eu conhecia? A minha pergunta, ela murmurou: "É um segredo" e pôs o indicador sobre os lábios. Meinthe acrescentou, com um
riso agudo inquietante:
- O senhor compreende, ela está aqui incógnita. Íamos pela estrada da beira do lago. Meinthe tinha diminuído a marcha e ligado o rádio. O ar estava quente e deslizávamos
através de uma noite sedosa e clara como jamais vi depois, exceto no Egito ou na Flórida de meus sonhos. O cachorro tinha apoiado o queixo na parte côncava de meu
ombro e seu bafo me queimava. À direita, os jardins desciam até o lago. A partir de Chavoire, a estrada era orlada de palmeiras e de pinheiros guarda-sóis.
Nós passamos o vilarejo de Veyrier-du-Lac e nos metemos num caminho em declive. O portão ficava em nível inferior da estrada. Sobre uma placa de madeira, esta inscrição:
"Villa les Tilleuls"(o mesmo nome de meu hotel). Uma aléia de
28
cascalho bastante grande, ladeada de árvores e de uma massa de vegetação abandonada, levava à entrada da casa, grande edifício branco em estilo Napoleão III, com
portas
cor-de-rosa. Alguns automóveis estavam estacionados uns de encontro aos outros. Atravessamos o vestíbulo para desembocar numa peça que devia ser o salão. Lá, na
luz peneirada que duas ou três lâmpadas difundiam, vislumbrei umas dez pessoas, umas de pé junto às janelas, outras embaixo, sobre um sofá branco, o único móvel,
parecia. Eles se dedicavam a beber e mantinham conversas animadas, em alemão e em francês. Um pick-up colocado ali mesmo no assoalho difundia uma melodia lenta a
que se misturava a voz muito grave de um cantor repetindo:
Oh, Bionda gari... Oh, Bionda girl... Bionda girl...
Yvonne tinha me segurado o braço. Meinthe lançava olhares rápidos em torno de si, como se procurasse alguém, mas os membros daquela reunião não prestavam a menor
atenção em nós. Pela porta da sacada alcançamos uma varanda com balaustrada de madeira verde onde se encontravam espreguiçadeiras e poltronas de vime. Uma lanterna
chinesa desenhava sombras complicadas em forma de renda e entrelaços e se podia dizer que os rostos de Yvonne e de Meinthe tinham sido bruscamente encobertos
por pequenos véus.
Embaixo, no jardim, diversas pessoas se apertavam em torno de um bufê que parecia que ia desabar de tanta comida. Um homem muito alto e muito louro nos acenava
e caminhava em nossa direção, apoiando-se numa bengala. Sua camisa de linho bege, muito aberta, parecia uma túnica do Saara, e eu pensava naqueles personagens
que se encontravam antigamente nas colônias e que tinham um "passado". Meinthe me apresentou a ele: Rolf Madeja, o "diretor". Ele se inclinou para beijar Yvonne
e pousou a mão no ombro de Meinthe. Chamava-o de "Menthe", com um sotaque mais britânico do que alemão.
29
Levou-nos em direção ao bufê e aquela mulher loura, também alta como ele, aquela Walkiria de olhar afogado (ela nos fixava sem nos ver, ou então contemplava alguma
coisa através de nós), era sua esposa.
Tínhamos deixado Meinthe em companhia de um jovem com fisico de alpinista e íamos, Yvonne e eu, de grupo em grupo. Ela beijava todo mundo e quando lhe perguntavam
quem eu era, ela respondia: "um amigo." Pelo que entendi, a maior parte daquelas pessoas tinha participado do "filme". Dispersaram-se pelo jardim. Aí tudo se
via muito bem devido ao clarão da lua. Seguindo as atéias invadidas pelo capim, descobria-se um cedro de altura assustadora. Tínhamos atingido o muro da cerca,
atrás do qual se escutava o marulho do lago e permanecemos ali, um longo momento. Daquele lugar se percebia a casa, que se erguia no meio do parque abandonado
e se ficava surpreso com sua presença, como se se acabasse de chegar àquela cidade antiga da América do Sul onde, parece, uma casa de ópera em estilo rococó,
uma catedral e hotéis particulares em mármore de Carrara estão hoje enterrados sob a floresta virgem.
Os convidados não se aventuraram a ir tão longe quanto nós, com exceção de dois ou três casais que discerníamos vagamente e que aproveitavam a mata luxuriante e
a noite. Os outros se mantinham diante da casa ou na varanda. Juntamo-nos de novo a eles. Onde estava Meinthe? Talvez lá dentro, no salão. Madeja se aproximou e
com seu sotaque meio britânico meio alemão nos explicava que de bom grado ficaria aqui mais 15 dias, mas tinha que ir a Roma. Alugaria de novo a vila em setembro
"quando a montagem do filme estivesse terminada". Ele pega Yvonne pela cintura e não sei se a bolina ou se seu gesto tem alguma coisa paternal:
- Ela é muito boa atriz. Ele me fixa e noto em seus olhos uma bruma cada vez mais compacta.
- O senhor se chama Chmara, não é? A bruma se dissipa de repente, seus olhos brilham com um fulgor azul mineral.
30
- Chmara... é mesmo Chmara, hein? Eu respondo: sim, na ponta dos lábios. E seus olhos, de novo, perdem sua dureza, borram-se, até se liquefazerem completamente.
Sem dúvida ele tem o poder de governar seu brilho à vontade como se ajusta um par de binóculos. Quando quer se voltar para si mesmo, então os olhos se embaçam
e o mundo exterior não é mais que uma massa fluida. Conheço bem esse procedimento porque o emprego com freqüência.
- Havia um Chmara, em Berlim, no tempo... - me dizia ele. - Não é, Ilse?
Sua mulher, esticada numa espreguiçadeira na outra extremidade da varanda, tagarelava com dois jovens e se voltou com um sorriso nos lábios.
- Não é, Ilse? Havia um Chmara no tempo, em Berlim. Ela o olhava e continuava sorrindo. Depois, virou de novo a cabeça e retomou sua conversa. Madeja sacudiu os
ombros e apertou a bengala com as duas mãos.
- Sim... Sim... Esse Chmara morava na aléia Kaiser... O senhor não está acreditando em mim, hein?
Ele se levantou, acariciou o rosto de Yvonne e andou na direção da balaustrada de madeira verde. Ficou lá, de pé, compacto, a contemplar o jardim sob a lua.
Nós estávamos sentados um ao lado do outro, sobre dois pufes, e ela apoiava a cabeça contra meu ombro. Uma moça morena cuja blusa cavada deixava ver os seios (a
cada gesto um pouco mais brusco, pulavam para fora do decote) nos estendia dois copos cheios de um líquido cor-de-rosa. Ela ria às gargalhadas, beijava Yvonne,
suplicava em italiano que bebêssemos aquele coquetel que ela tinha preparado "especialmente para nós". Chamava-se, se me lembro bem, Daisy Marchi e Yvonne me
explicou que fazia o papel principal no "filme". Também ia fazer uma grande carreira. Era conhecida em Roma. E já ela nos abandonava, rindo cada vez mais e sacudindo
os longos cabelos, para juntar-se a um homem de cerca de cinqüenta anos, porte esbelto e rosto grisalho que estava à porta da sacada, com um copo na mão. Este
era Harry Dressel, um holandês, um dos
atores do "filme". Outras pessoas ocupavam as poltronas de vime ou se apoiavam na balaustrada. Algumas cercavam a mulher de Madeja, que sorria sempre, com os olhos
ausentes. Pela porta da sacada, escapavam um murmúrio de conversas e uma música lenta e melosa mas, desta vez, o cantor de voz grave repetia:
Abat-jour Che sofonde la luce blu...
Madeja passeava no gramado na companhia de um homenzinho careca que lhe batia na cintura, de modo que era obrigado a se abaixar para falar. Passavam e voltavam a
passar na frente da varanda. Madeja cada vez mais pesado e curvo, seu interlocutor cada vez mais empinado na ponta dos pés. Ele emitia um zumbido de zangão e
a única frase que pronunciava utilizando a linguagem dos homens era: "va bene Rolf...va bene Rolf... va bene Rolf...vabenerolf..." O cachorro de Yvonne, sentado
à borda da varanda numa posição de esfinge, acompanhava o vaivém virando a cabeça da direita para a esquerda, da esquerda para a direita.
Onde estávamos? No coração da Haute-Savoie. É inútil me repetir esta frase reconfortante: "no coração da
Haute-Savoie". Penso, antes, num país colonial ou nas ilhas
Caraíbas. Senão, como explicar aquela luz suave e corrosiva, aquele azul noite que deixava os olhos, as peles, os vestidos e os ternos de alpaca fosforescentes?
Aquelas pessoas todas estavam cercadas de uma eletricidade misteriosa e se esperava, a cada gesto delas, que se produzisse um curto-circuito. Seus nomes - alguns
me ficaram na memória e lamento não tê-los anotado todos na hora: eu os teria recitado à noite, antes de dormir, ignorando a quem pertenciam, sua consonância me
teria bastado - seus nomes evocavam aquelas pequenas sociedades cosmopolitas dos portos livres e balcões ultramarinos: Gay Orloff, Percy Lippitt, Osvaldo Valenti,
IIse Korber, Roland Witt von Nidda, Geneviève Bouchet, Geza Pellemont, François Brunhardt...Que
32
vieram a ser? O que dizer-lhes nesse encontro em que os ressuscito? Já nessa época vai fazer 13 anos em breve - me davam a sensação de ter, há muito, queimado suas
vidas. Eu os observava, escutava-os falar debaixo da lanterna chinesa que salpicava os rostos e os ombros das mulheres. A cada um eu emprestava um passado que
recortava o dos outros, e eu gostaria que me revelassem tudo: quando Percy Lippitt e Gay Orloff se encontraram pela primeira vez? Um dos dois conhecia Osvaldo Valenti?
Por intermédio de quem Madeja passou a se relacionar com Geneviève Bouchet e François Brunhardt? Quem, dessas seis pessoas, tinha introduzido no seu círculo Roland
Witt von Nidda? (E cito apenas aqueles cujos nomes guardei.) Uma quantidade de enigmas que supunha uma infinidade de combinações, uma teia de aranha que passaram
dez ou vinte anos a tecer.
Era tarde e procurávamos Meinthe. Ele não se encontrava nem no jardim, nem na varanda, nem no salão. O Dodge tinha desaparecido. Madeja, com quem cruzamos na escadaria
exterior, em companhia de uma menina de cabelo louro muito curto, nos declarou que "Menthe" acabava de sair com "Fritzi Trenker" e com certeza não iria voltar.
Deu uma gargalhada que me surpreendeu e apoiou a mão no ombro da menina.
- Minha bengala de velho - declarou ele. O senhor entende, Chmara? Depois nos deu as costas, bruscamente. Atravessava o corredor apoiando-se com mais força no ombro
da jovem. Tinha o aspecto de um velho lutador de boxe cego.
Foi a partir desse momento que as coisas tomaram outro rumo. Apagaram as lâmpadas do salão. Restava apenas uma vigia na chaminé cuja luz rosa era apagada por grandes
zonas de sombra. À voz do cantor italiano sucedeu-se uma voz feminina, que se interrompia, enrouquecia a ponto de não se compreender mais as palavras da canção
e de se imaginar se era o lamento de uma moribunda ou um grunhido de prazer. Mas a voz de repente se purificava e as mesmas palavras voltavam, repetidas em doces
inflexões.
33
A mulher de Madeja estava deitada atravessada no sofá e um dos jovens que a cercavam na varanda inclinava-se sobre ela, começava a desabotoar lentamente seu vestido.
Ela fixa o teto, os lábios entreabertos. Alguns casais dançam, um pouco colados demais, fazendo gestos um tanto preciosos demais. Na passagem vejo o estranho
Harry Dressel acariciar com a mão pesada as coxas de Daisy Marchi. Perto da porta da sacada, um espetáculo prende a atenção de um pequeno grupo: uma mulher dança
sozinha. Ela tira o vestido, a combinação, o sutiã. Nós nos juntamos ao grupo, Yvonne e eu, por ociosidade. Roland Witt von Nidda, o rosto alterado, a devora com
os olhos: ela está só de meias e ligas e continua a dançar. De joelhos, ele tenta arrancar as ligas da mulher com os dentes, mas ela sempre se esquiva. Afinal,
decide-se por tirar esses acessórios ela própria e continua a dançar completamente nua, girando em torno de Witt von Nidda, roçando-o, e este se mantém imóvel,
impassível, com o queixo estendido, o busto encurvado, toureiro grotesco. Sua sombra contorcida aparece na parede e a da mulher - desmesuradamente aumentada - varre
o teto. Logo não há mais, por aquela casa toda, senão um balé de sombras que se perseguem umas às outras, sobem e descem as escadas, soltam gargalhadas e gritos
furtivos.
Contíguo ao salão, um cômodo de canto. Estava mobiliado com uma escrivaninha maciça com inúmeras gavetas, como eram, suponho, no ministério das Colônias, e uma
grande poltrona de couro verde escuro. Refugiamo-nos ali. Lancei um último olhar ao salão e ainda vi a cabeça da senhora Madeja lançada para trás (estava apoiando
a nuca no braço do sofá). Sua cabeleira loura caía até o chão, e aquela cabeça dir-se-ia que acabava de ser cortada. Ela pôs-se a gemer. Eu mal distinguia o outro
rosto, próximo ao dela. Ela soltava gemidos cada vez mais fortes e pronunciava frases desordenadas: "me mata... me mata... me mata... me mata". Sim, lembro-me
de tudo isso.
O chão do escritório estava coberto por um tapete de lã muito grosso e nós nos deitamos ali. Um raio, ao nosso lado,
34
desenhava uma barra cinza-azulada que ia de um canto do cômodo ao outro. Uma das janelas estava entreaberta e eu ouvia farfalhar uma árvore cuja folhagem acariciava
o vidro. E a sombra dessa folhagem cobria a biblioteca com uma rede de noite e de lua. Estavam ali todos os livros da coleção do "Máscara".
O cão adormeceu diante da porta. Nenhum ruído mais, nenhuma voz nos vinha do salão. Quem sabe todos tinham deixado a vila e só nós permanecíamos? Flutuava no escritório
um perfume de couro velho e me perguntei quem teria arrumado os livros nas prateleiras. A quem pertenciam? Quem vinha à noite fumar um cachimbo aqui, trabalhar
ou ler um dos romances ou escutar o sussurro das folhas?
Sua pele tinha tomado um matiz opalino. A sombra de uma folha vinha tatuar sua espádua. Às vezes, ela se abatia sobre seu rosto e dir-se-ia que estava de máscara.
A sombra descia e lhe amordaçava a boca. Eu gostaria que o dia jamais se levantasse, para ficar com ela encoscorado no fundo daquele silêncio e daquela luz de
aquário. Um pouco antes da aurora" ouvi uma porta bater, passos precipitados acima de nós e o barulho de um móvel virado. E depois gargalhadas. Yvonne tinha adormecido.
O dogue sonhava soltando, a intervalos regulares, um gemido surdo. Entreabri a porta. Não havia ninguém no salão. A vigia continuava iluminada, mas sua claridade
parecia mais fraca, não mais cor-de-rosa, mas verde muito claro. Dirigi-me à varanda para tomar ar. Ninguém também sob a lanterna chinesa que continuava brilhando.
O vento a fazia oscilar e formas dolorosas, umas de aparência humana, corriam pelas paredes. Embaixo, o jardim. Eu tentava definir o perfume que se desprendia daquela
vegetação e invadia a varanda. Mas sim, hesito em dizê-lo pois isso se passava na Haute-Savoie: eu respirava um cheiro de jasmim.
Atravessei outra vez o salão. A vigia sempre difundindo sua luz verde pálida, em ondas lentas. Pensei no mar e naquele líquido gelado que se bebe nos dias de calor:
menta diabolo. Ouvi ainda explosões de riso e sua pureza me espantou.
35
Vinham de muito longe e se aproximavam de repente. Não conseguia localizá-las. Eram cada vez mais cristalinas, voláteis. Ela dormia, a maçã do rosto apoiada sobre
o braço direito, estendido para a frente. A barra azulada que a lua projetava através do cômodo iluminava a fenda dos lábios, o pescoço, a nádega esquerda e o calcanhar.
Sobre suas costas aquilo fazia como que um cachecol retilíneo. Eu prendia a respiração.
Revejo o balanço das folhas atrás do vidro e aquele corpo cortado em dois por um raio de lua. Por que, às paisagens da Haute-Savoie que nos cercam, superpõe-se
em minha memória uma cidade desaparecida, a Berlim de antes da guerra? Talvez porque ela "trabalhasse" num "filme" de "Rolf Madeja". Mais tarde me informei a
respeito dele e fiquei sabendo que tinha debutado muito novo nos estúdios da U.F.A. Em fevereiro de 45, tinha começado seu primeiro filme, Confettis für zwei,
uma opereta vienense muito frívola e muito alegre cujas cenas ele rodava entre dois bombardeios. O filme ficou inacabado. E eu, quando evoco essa noite, avanço
entre as casas pesadas da Berlim de outrora, bordejo cais e bulevares que não existem mais. Da Alexander-Platz, caminhei em linha reta, atravessei o Lust-Garten
e a Sprée. A noite cai sobre as quatro fileiras de tílias e castanheiros e sobre os bondes que passam. Estão vazios. As luzes tremem. E você, você me espera naquela
gaiola de verdura que brilha no final da avenida, o jardim de inverno do hotel Adlon.
36
IV
Meinthe olhou atentamente o homem de impermeável que arrumava os copos. Este acabou por baixar a cabeça e de novo absorveu-se no trabalho. Mas Meinthe permanecia
diante dele, congelado num irrisório alerta. Em seguida, voltou-se para os outros dois que o examinavam, com sorriso mau e o queixo apoiado na ponta do cabo da
vassoura. A semelhança física deles era marcante: os mesmos cabelos louros cortados à escova, o mesmo bigodinho, os mesmos olhos azuis salientes. Inclinavam o
corpo, um para a direita, o outro para a esquerda, de maneira simétrica, tanto se poderia imaginar que fosse a mesma pessoa refletida num espelho. Essa ilusão Meinthe
deve ter tido, porque se aproximou dos dois homens lentamente, com a sobrancelha franzida. Quando estava a alguns centímetros deles, deslocou-se para observá-los
de costas, a três quartos e de perfil. Os outros não se mexiam, mas se adivinhava que estavam prestes a se soltar e esborrachar Meinthe com uma saraivada de murros.
Meinthe desviou deles e recuou para a saída do restaurante, sem lhes tirar os olhos de cima. Eles permaneceram ali, petrificados, sob a claridade avara e amarelada
que destilava o aplique da parede.
Ele agora atravessa a praça da Estação, com a gola do
37
jaquetão levantada e a mão esquerda crispada sobre o lenço, como se estivesse ferido no pescoço. Neva um pouquinho. Os flocos são tão leves e finos que flutuam
no ar. Ele se embrenha pela rua Sommeiller e pára diante do Régent. Lá estão passando um filme muito antigo que se chama La dolce vita, Meinthe se abriga sob o
toldo do cinema e olha as fotografias do filme uma por uma, ao mesmo tempo em que tira do bolso do jaquetão uma piteira. Ele a aperta entre os dentes e apalpa
todos os outros bolsos à procura - sem dúvida - de um Carne!. Mas não encontra. Então seu rosto é tomado por tiques, sempre os mesmos: crispação da bochecha esquerda
e movimentos secos do queixo - mais lentos e mais dolorosos do que há 12 anos.
Ele parece hesitar quanto ao caminho a seguir: atravessar e pegar a rua Vaugelas que se junta à rua Royale ou continuar descendo a rua Sommeiller? Um pouco mais
em baixo, à direita, a placa verde e vermelha do Cintra. Meinthe a fixa, piscando os olhos. CINTRA. Os flocos voam em turbilhão em torno daquelas seis letras e
tomam também eles uma cor verde e vermelha. Verde cor de absinto. Vermelho campari...
Ele anda em direção àquele oásis, com as costas encurvadas, as pernas tesas e, se não fizesse esse esforço de tensão, certamente escorregaria na calçada, boneco
desarticulado.
O cliente de casaco xadrez continua lá, mas já não importuna a garçonete. Sentado diante de uma mesa, bem no fundo, bate com o indicador esticado repetindo numa
vozinha que podia ser a de uma senhora muito velha: "E zim... bum-bum... e zim... bum-bum..." A garçonete, por sua vez, lê uma revista. Meinthe sobe num dos tamboretes
e lhe pousa a mão sobre o braço.
- Um porto claro, minha pequena - cochicha ele.
38
V
Deixei os Tilleuls para morar com ela no Hermitage. Uma noite, vieram me buscar, Meinthe e ela. Eu acabava de jantar e esperava no salão, sentado bem perto do
homem com cara de cocker spaniel triste. Os outros atacavam sua canastra. As mulheres tagarelavam com a senhora Buffaz. Meinthe parou no vão da porta. Vestia um
terno cor-de-rosa muito claro e de seu bolso pendia um lenço verde escuro.
Eles se voltaram para ele. - Senhoras... Senhores murmurou Meinthe inclinando a cabeça. Depois caminhou em minha direção e se endireitou: Estamos esperando-o. Pode
mandar descer sua bagagem.
A senhora Buffaz me perguntou brutalmente: - O senhor está nos deixando? Eu estava de olhos baixos. - Isto ia acontecer mais dia menos dia, madame - respondeu
Meinthe, num tom sem réplica.
- Mas ele poderia ao menos nos avisar com antecedência.
Compreendi que aquela mulher sentia um ódio súbito em relação a mim e que não hesitaria em me entregar à polícia sob o menor pretexto. Fiquei entristecido.
39
- Senhora ouvi Meinthe responder -, esse moço não pode fazer nada, ele acaba de receber uma ordem de missão assinada pela rainha dos belgas.
Eles nos encaravam, petrificados, com as cartas na mão. Meus habituais vizinhos de mesa me inspecionavam com um ar ao mesmo tempo surpreso e enojado, como se acabassem
de perceber que eu não pertencia à espécie humana. A alusão à "rainha dos belgas" foi acolhida com um murmúrio geral e quando Meinthe, sem dúvida querendo enfrentar
a senhora Buffaz que estava a sua frente, de braços cruzados, repetiu, martelando as sílabas:
- Ouviu, madame? A RAINHA DOS BELGAS... - o murmúrio aumentou e me provocou uma fisgada no coração. Então, Meinthe bateu no chão com o salto, esticou o queixo e
gritou muito rapidamente, embaralhando as palavras:
-Não disse tudo à senhora, madame... A RAINHA DOS BELGAS sou eu...
Houve gritos e movimentos de indignação: a maior parte dos hóspedes tinha se levantado e formava um grupo hostil, diante de nós. A senhora Buffaz avançou um passo
e temi que ela desse uma bofetada em Meinthe ou em mim. Essa última possibilidade me parecia natural: eu me sentia o único responsável.
Eu gostaria de pedir perdão àquelas pessoas ou que um golpe de vara mágica apagasse da memória delas o que acabava de acontecer. Todos os meus esforços para passar
desapercebido e me dissimular num local seguro tinham sido reduzidos a nada, em alguns segundos. Eu sequer ousava lançar um último olhar em volta do salão onde
após os jantares um coração inquieto como o meu tinha se sentido tão em paz. E quis mal a Meinthe, por um breve instante. Por que lançar a consternação entre aqueles
pobres hóspedes que jogavam canastra? Eles me tranqüilizavam. Na companhia deles, eu não corria risco algum.
A senhora Buffaz de bom grado teria nos jogado veneno na cara. Seus lábios ficavam cada vez mais finos. Eu a perdôo.
40
Eu a havia traído, de certa forma. Eu tinha sacudido a preciosa relojoaria que eram os Tilleuls. Se ela estiver me lendo (o que duvido; e aliás, os Tilleuls já
não existem), gostaria que soubesse que eu não era um mau rapaz.
Foi preciso descer as "bagagens" que eu tinha arrumado à tarde. Compunham-se de um baú de três malas grandes. Continham escassas roupas, todos os meus livros, meus
velhos catálogos e os números de Match, Cinémonde, Music-hall, Détective e Noir et blanc dos últimos anos. Aquilo pesava muito. Meinthe, querendo deslocar o baú,
quase foi esmagado por ele. Conseguimos, à custa de esforços inauditos, deitá-lo transversalmente. Em seguida, levamos uns vinte minutos para arrastá-lo pelo corredor
até o patamar da escada. Escorávamos, Meinthe na frente, eu atrás, e nos faltava fôlego. Meinthe se deitou totalmente sobre o assoalho, com os braços em cruz e
os olhos fechados. Eu voltei a meu quarto e bem ou mal, vacilando, transportei as três malas até a beira da escada.
A luz se apagou. Fui tateando até o interruptor, mas era inútil acioná-lo, continuava escuro. Embaixo, a porta entreaberta do salão deixava filtrar uma vaga claridade.
Distingui uma cabeça que se inclinava na abertura: a da senhora Buffaz, eu tinha quase certeza. Logo compreendi que ela devia ter retirado um dos fusíveis para
que descêssemos a bagagem na escuridão. E isso me causou um riso nervoso louco.
Empurramos o baú até enfiá-lo na escada pela metade. Estava em equilíbrio precário sobre o primeiro degrau. Meinthe agarrou-se ao corrimão e deu um chute raivoso:
a mala deslizou, pulando a cada degrau e fazendo um barulho assustador. Poderse-ia pensar que a escada ia desmoronar. A cabeça da senhora Buffaz apareceu outra
vez de perfil na abertura da porta do salão, cercada de outras três ou quatro. Ouvi guinchar: "olhem só esses porcos..." Alguém repetia numa voz sibilante a palavra
"polícia". Peguei uma mala em cada mão e comecei a descer. Não via nada. Aliás, preferia fechar os olhos e contar baixo para ter coragem. Um-dois-três. Um-dois-três...
Se escorregasse,
41
seria arrastado pelas malas até o térreo e aniquilado pelo choque. Impossível fazer uma pausa. Minhas clavículas iam arrebentar. E aquele horrível riso louco
voltava a me tomar.
A luz voltou e me ofuscou. Eu me encontrava no térreo, entre as duas malas e o baú, embotado. Meinthe me seguia, a terceira mala na mão (ela pesava menos porque
continha apenas meus negócios de toalete) e bem que eu gostaria de saber quem foi que me deu força para chegar vivo até lá. A senhora Buffaz me estendeu a nota,
que acertei com o olhar fugidio. Depois ela entrou no salão e bateu a porta atrás de si. Meinthe se apoiava contra o baú e batia no rosto com o lenço enrolado
feito bola, com os pequenos gestos precisos de uma mulher que se empoa.
- É preciso continuar, meu velho - disse ele, apontando a bagagem -, continuar...
Arrastamos o baú até a escada exterior. O Dodge estava estacionado perto do portão dos Tilleuls e eu adivinhava a silhueta de Yvonne, sentada na frente. Ela fumava
um cigarro e nos fez sinal com a mão. Conseguimos apesar de tudo alçar a mala ao banco de trás. Meinthe se prostrou de encontro ao volante e eu fui buscar as três
malas, no vestíbulo do hotel.
Alguém estava imóvel na frente do balcão da recepção: o homem com cara de cocker spaniel. Ele andou em minha direção e parou. Eu sabia que ele queria me dizer
alguma coisa mas as palavras não saíam. Achei que ia soltar seu latido, aquele gemido doce e prolongado que eu era sem dúvida o único a escutar (os hóspedes dos
Tilleuls continuavam sua partida de canastra ou sua conversação). Ele permanecia ali, com as sobrancelhas franzidas, a boca entreaberta, fazendo esforços cada
vez mais violentos para falar. Ou estava sentindo náusea e não conseguia vomitar? Ao cabo de alguns minutos retomou a calma e me disse numa voz surda : "O senhor
está indo na hora. Até à vista, senhor."
Ele me estendia a mão. Vestia um casaco grosso de tweed e calça de tecido bege ao avesso. Eu admirava os sapatos dele;
42
de camurça cinzenta com solas de crepe muito, muito grossas. Estava certo de ter encontrado esse homem antes de minha estada nos Tilleuls, e isso devia remontar
a uns dez anos. E de repente... Mas sim, eram os mesmos sapatos, e o homem que me estendia a mão aquele que tanto tinha me intrigado no tempo de minha infância.
Ele ia às Tulherias toda quinta-feira e todo domingo com um barco miniatura (uma reprodução fiel do Kon Tiki) e o via evoluir pelo lago, mudando de posto de observação,
empurrando-o com a ajuda de uma vara quando encalhava contra a margem de pedra, verificando a solidez de um mastro ou de uma vela. Às vezes, um grupo de crianças
até mesmo de gente grande acompanhava aquela manobra e ele lhes lançava um olhar furtivo como se receasse sua reação. Quando lhe perguntavam sobre o barco, respondia,
gaguejando: sim, era um trabalho muito demorado, muito complicado, construir um Kon Tiki. E, enquanto falava, acariciava o brinquedo. Por volta das sete horas da
noite, levava o barco e se sentava num banco para enxugá-lo, com a ajuda de uma toalhaesponja. Eu o via em seguida dirigir-se à rua Rivoli, com o Kon Tiki debaixo
do braço. Mais tarde, devo ter pensado freqüentemente naquela silhueta que se afastava no crepúsculo.
Ia lembrá-lo de nossos encontros? Mas sem dúvida ele tinha perdido o barco dele. Eu disse por minha vez: "Adeus, senhor". Empunhei as duas primeiras malas e atravessei
lentamente o jardim. Ele andava a meu lado, silencioso. Yvonne estava sentada no pára-lama do Dodge. Meinthe, ao volante, tinha a cabeça deitada no banco e os olhos
fechados. Arrumei as duas valises na mala do carro, atrás. O outro espiava todos os meus gestos com interesse ávido. Quando atravessei de novo o jardim, me precedia,
e se voltava de vez em quando para ver se eu continuava lá. Ele levantou a última mala com um gesto seco e me disse: " o senhor permite..."
Era a mais pesada. Eu tinha arrumado nela os catálogos. Ele a pousava a cada cinco metros e tomava ar. Cada vez que eu fazia menção de pegá-la, me dizia:
43
- Por favor, senhor... Quis ele próprio erguê-la ao banco de trás. Conseguiu com muito esforço, depois ficou lá. Os braços balançando, o rosto um pouco congestionado.
Não prestava atenção alguma em Yvonne e Meinthe. Cada vez mais parecia um cocker spaniel.
- Veja, senhor murmurou ele - ... eu lhe desejo boa sorte.
Meinthe deu a partida suavemente. Antes de o automóvel entrar na primeira curva, virei-me. Ele estava de pé no meio da estrada, bem perto de um poste que iluminava
seu casaco grosso de tweed e suas calças bege ao avesso. Só lhe faltava, em suma, o Kon Tiki debaixo do braço. Há seres misteriosos - sempre os mesmos - que se
põem de sentinela a cada encruzilhada de sua vida.
44
VI
No Hermitage, ela não só dispunha de um quarto mas também de um salão mobiliado com três poltronas estofadas de estampado, uma mesa redonda de acaju e um divã.
As paredes do salão e as do quarto estavam cobertas por um papel que reproduzia as telas de Jouy. Mandei pôr o baú num canto do cômodo, de pé, para ter a meu alcance
tudo que suas gavetas continham. Pulôveres ou velhos jornais. As malas, eu mesmo as empurrei para o fundo do banheiro, sem abri-las, pois é preciso estar pronto
de um instante a outro e considerar um refúgio provisório cada quarto onde se dá com os costados.
Além disso, onde poderia eu arrumar minhas roupas, meus livros e catálogos? Os vestidos e sapatos dela enchiam todos os armários e alguns ficavam em desordem sobre
as poltronas e o divã do salão. A mesa de acaju estava coberta de produtos de beleza. O quarto de hotel de uma atriz de cinema, pensava eu. A desordem que os
jornalistas descrevem, na Ciné-Mondial ou na Vedettes. A leitura de todas essas revistas muito me tinha impressionado. E eu sonhava. Então evitava os gestos muito
bruscos e as questões por demais precisas, para não despertar.
Já na primeira noite, acho, ela me pediu para ler o roteiro do filme que acabava de rodar sob a direção de Rolf Madeja.
45
Fiquei muito emocionado. Chamava-se: Liebesbriefe aufdem Berg (Carta de amor da montanha). A história de um instrutor
de esqui chamado Kurt Weiss. No inverno, ele dá cursos às ricas estrangeiras de férias naquela estação elegante de Vorarlberg. Seduz todas, graças à pele queimada
e à grande beleza física. Mas acaba se apaixonando loucamente por uma delas, mulher de um industrial húngaro, e esta retribui seus sentimentos. Eles vão dançar
no bar muito "chique" da estação debaixo dos olhares enciumados das outras mulheres. Em seguida, Kurtie e Lena terminam a noite no hotel Bauhaus. Juram-se amor
eterno e falam da vida futura num chalé isolado. Ela tem de partir para Budapeste, mas promete voltar o mais rapidamente possível. Agora, na tela, a neve cai;
depois cascatas cantam e as árvores se cobrem de folhas novas. É a primavera e, daqui a pouco, eis o verão. Kurt Weiss exerce seu verdadeiro oficio, de pedreiro,
e é com dificuldade que se reconhece nele o belo instrutor bronzeado do inverno. Toda tarde, escreve uma carta a Lena e espera a resposta. Uma moça da região o
visita de vez em quando, Eles vão fazer longas caminhadas juntos.
Ela o ama, mas ele pensa sem cessar em Lena. Ao final de peripécias que me esqueci, a lembrança de Lena pouco a pouco se esvai, em favor da moça (Yvonne fazia
esse personagem) e Kurtie compreende que não se tem o direito de desprezar uma solicitude tão terna. Na cena final, eles se beijam sobre um fundo de montanhas e
pôr-do-sol.
O quadro de uma estação de esportes de inverno, de seus costumes e freqüentadores me parecia muito "batido". Quanto à jovem
que Yvonne encarnava, era "um ótimo papel para uma iniciante".
Comuniquei a ela minha opinião. Ela me escutou com muita atenção. Fiquei orgulhoso dela. Perguntei-lhe em que data poderíamos ver o filme. Não antes do mês de
setembro, mas Madeja vai fazer, sem dúvida, uma projeção em Roma daqui a 15 dias "das tomadas de ponta a ponta". Nesse caso, ela me
levaria lá pois "queria tanto saber o que eu achava de sua interpretação"...
46
Sim, quando tento rememorar os primeiros instantes de nossa "vida em comum", escuto como numa fita magnética usada nossas conversas relativas a sua "carreira".
Quero me tornar interessante. Adulo-a... "Esse filme de Madeja é muito importante para a senhora, mas agora será necessário encontrar alguém que a valorize de verdade...
Um rapaz de gênio... Um judeu, por exemplo..." Ela, cada vez mais atenta. "O senhor acha?" "Sim, sim, tenho certeza".
A candura de seu rosto me espanta, a mim, que só tenho 18 anos. "Você acha mesmo?", diz ela. E à nossa volta a desordem do quarto é cada vez maior. Acho que não
saímos durante dois dias.
De onde vinha ela? Muito depressa compreendi que não morava em Paris. Falava de lá como uma cidade que mal conhecia. Tinha estado brevemente duas ou três vezes
no WindsorReynolds, um hotel da rua Beaujon de que me lembrava bem: meu pai, antes de seu estranho desaparecimento, ali marcava encontros comigo (a memória me
falha: foi no saguão do Windsor-Reynolds, ou no do Lutetia que o vi pela última vez?). Fora o Windsor-Reynolds só guardava de Paris a rua ColonelMoll e o bulevar
Beauséjour, onde tinha "amigos" (eu não ousava perguntar que amigos). Ao contrário, Genebra e Milão recorriam sempre em sua conversa. Tinha trabalhado em Milão e
em Genebra também. Mas que tipo de trabalho?
Olhei seu passaporte, às escondidas. Nacionalidade francesa. Domiciliada em Genebra, praça Dorcière, 6B. Por quê? Para minha grande surpresa, tinha nascido na cidade
de Haute-Savoie onde nos encontrávamos. Coincidência? Ou era originária da região? Ainda tinha família aqui? Arrisquei uma pergunta indireta sobre o assunto, mas
ela queria me esconder alguma coisa. Respondeu-me de modo muito vago, dizendo que tinha sido educada no estrangeiro. Não insisti. Com o tempo, pensava, terminarei
sabendo de tudo.
47
Ela também me fazia perguntas. Eu estava de férias aqui? Por quanto tempo? Tinha logo adivinhado, disse-me, que eu vinha de Paris. Declarei que "minha família"
(e senti grande volúpia ao dizer "minha família") queria que eu fizesse um repouso de vários meses, em função de minha saúde "precária". A medida que lhe fornecia
essas explicações, via uma dúzia de pessoas muito circunspectas, sentadas em volta de uma mesa, num cômodo com lambris: o "conselho de família", que ia tomar decisões
a meu respeito. As janelas do cômodo davam para a praça Malesherbes e eu pertencia àquela antiga burguesia judia que se fixou por volta de 1890 na planície Monceau.
Ela me perguntou à queima-roupa: "Chmara é um nome russo. O senhor é russo?" Então pensei em outra coisa: morávamos, minha avó e eu, num térreo próximo da Étoile,
mais exatamente na rua Lord-Byron, ou na rua de Bassano (necessito de detalhes precisos). Vivíamos da venda de nossas "jóias de família" ou penhorando-as no crédito
municipal da rua Pierre-Charron. Sim, eu era russo, e me chamava conde Chmara. Ela pareceu impressionada.
Durante alguns dias não tive mais medo de nada nem de ninguém. E, em seguida, aquilo voltou. Velha dor alucinante.
Na primeira tarde que saímos do hotel, tomamos o barco Amiral-Guisand, que fazia a volta do lago. Ela exibia óculos escuros de armação grossa e lentes opacas e
prateadas. A gente se refletia neles como num espelho.
O barco avançava preguiçosamente e levou pelo menos vinte minutos para atravessar o lago até Saint-Jorioz. Eu franzia os olhos por causa do sol. Ouvia os murmúrios
distantes de lanchas a motor, os gritos e as gargalhadas das pessoas que se banhavam. Um avião de turismo passou, bem alto no céu, arrastando uma bandeirola onde
li estas palavras misteriosas: TAÇA HOULIGANT... A manobra foi muito demorada, antes de
48
aportarmos - ou melhor, do Amiral-Guisand ir de encontro ao cais. Três ou quatro pessoas subiram, entre elas um padre vestindo batina de um vermelho berrante, e
o barco retomou seu cruzeiro resfolegante. Depois de Saint-Jorioz, dirigiu-se a uma localidade chamada Voirens. Depois, seria Port-Lusatz e, um pouco mais longe,
a Suíça. Mas daria meia-volta a tempo e ganharia o outro lado do lago.
O vento lhe jogava na testa uma mecha de cabelo. Ela me perguntou se seria condessa caso nos casássemos. Disse isso num tom de brincadeira por trás do qual adivinhei
uma grande curiosidade. Respondi que se chamaria "condessa Yvonne Chmara".
- Mas é mesmo russo, Chmara? - Georgiano - disse eu. - Georgiano... Quando o barco parou em Veyrier-du-Lac, reconheci de longe a vila branca e rosa de Madeja.
Yvonne olhava na mesma direção. Uma dezena de jovens se instalou na ponte, a nosso lado. A maioria usava roupa de tênis e sob as saias brancas pregueadas as meninas
deixavam ver coxas grossas. Todos falavam com o sotaque dental que se cultiva para os lados do Ranelagh e da avenida Bugeaud. E me perguntei por que aqueles rapazes
e moças da boa sociedade francesa tinham, uns, ligeira acne, e outros, alguns quilos a mais. Sem dúvida aquilo tinha a ver com sua alimentação.
Dois membros do bando discutiam os méritos respectivos das raquetes Pancho Gonzalès e Spalding. O mais volúvel usava uma barba em toda a volta do rosto e uma camisa
enfeitada com um pequeno crocodilo verde. Conversa técnica. Palavras incompreensíveis. Burburinho doce e embalador, sob o sol. Uma das meninas louras não parecia
insensível ao charme de um moreno de mocassins e blazer com escudo, que se esforçava para brilhar diante dela. A outra loura declarava que "a festa era para depois
de amanhã à noite" e que os "pais lhes deixariam a vila". Barulho da água contra o casco. O avião voltava sobre nós e reli a estranha bandeirola: TAÇA HOULIGANT.
49
Iam todos (pelo que entendi) ao tênis clube de MenthonSaint-Bernard. Seus pais deviam ter vilas à beira do lago. E nós? Aonde íamos? E nossos pais, quem eram? Yvonne
pertencia a uma "boa família" como nossos vizinhos? E eu? Meu título de conde era, na verdade, algo diferente de um pequeno crocodilo verde perdido numa camisa branca...
"Estão chamando o senhor conde Victor Chmara ao telefone." Era como fragor de címbalos.
Nós descemos do barco em Menthon, com eles. Andavam a nossa frente, com as raquetes na mão. Seguíamos uma estrada ladeada de vilas cujo exterior lembrava chalés
de montanha e onde, já há muitas gerações, uma burguesia sonhadora passava as férias. Às vezes, essas casas eram escondidas por massas de abetos ou pinheiros.
Vila Primevère, Vila Edelweiss, Les Chamois, Chalé Marie-Rose... Eles tomaram um caminho, para a esquerda, que levava até as redes de uma quadra de tênis. Seu
zumbido e seus risos diminuíram.
Nós viramos para a direita. Um painel indicava: Grande Hotel de Menthon. Uma via particular subia uma encosta muito áspera até uma esplanada semeada de cascalho.
De lá, tinha-se uma vista tão vasta, mas mais triste, quanto a que se oferecia dos terraços do Hermitage. As margens do lago, desse lado, pareciam abandonadas.
O hotel era muito antigo. No saguão, plantas verdes, poltronas de rotim e grandes sofás forrados com tecido xadrez. Vinha-se para cá nos meses de julho e agosto
em família. Os mesmos nomes alinhavam-se no registro, nomes compostos franceses: Sergent-Delval, Hattier-Morel, PaquierPanhard... E quando pedimos um quarto, achei
que "conde Victor Chmara" ali ia cair como uma mancha de gordura.
À nossa volta, crianças, suas mães e seus avós, todos de uma grande dignidade, preparavam-se para ir à praia, levando bolsas cheias de almofadas e toalhas. Alguns
jovens cercavam um moreno alto, de camisa cáqui de exército aberta no peito e cabelo muito curto. Ele se apoiava em muletas. Os outros lhe faziam perguntas.
50
Um quarto de canto. Uma das janelas se abria sobre a esplanada e o lago, a outra tinha sido fechada. Um espelho grande e uma mesa pequena coberta com uma toalhinha
de renda. Uma cama com barras de cobre. Ficamos lá, até o cair da noite.
Enquanto atravessávamos o saguão, percebi-os fazendo a refeição da noite na sala de jantar. Estavam todos com roupas de cidade. As próprias crianças usavam gravatas
ou vestidinhos. E nós éramos os únicos passageiros no passadiço do AmiralGuisand. Ele atravessava o lago ainda mais lentamente do que na ida. Parava diante dos
embarcadouros vazios e retomava seu cruzeiro de velho bote cansado. As luzes das vilas cintilavam sob o verde. Ao longe, o Casino, iluminado por projetores. Naquela
noite certamente havia festa. Eu gostaria que o barco tivesse parado no meio do lago ou atracasse num dos pontões meio desmoronados. Yvonne tinha adormecido.
Jantávamos freqüentemente com Meinthe, no Sporting. As mesas ao ar livre, cobertas de toalhas brancas. Sobre cada uma delas, lâmpadas com dois abajures. Vocês
conhecem a fotografia do jantar do baile dos Pequenos Leitos Brancos, em Cannes, em 22 de agosto de 1939, e a que eu guardo comigo (meu pai aparece nela no meio
de um pessoal que sumiu), tirada no dia 11 de julho de 1948 no Casino do Cairo, na noite de eleição da miss Beleza do Banho, a jovem inglesa Kay Owen? Pois bem,
as duas fotos poderiam ter sido tiradas no Sporting, naquele ano, enquanto estávamos jantando. Mesma decoração. Mesma noite "azul". Mesma gente. Sim, eu reconhecia
certas caras.
Meinthe usava cada vez um smoking de cor diferente e Yvonne vestidos de musselina ou de crepe. Ela adorava coletes e lenços. Eu estava condenado a meu único terno
de flanela e a minha gravata do International Bar Fly. Nos primeiros tempos, Meinthe nos levava à Sainte-Rose, uma boate à beira do lago, depois de Menthon-Saint-Bernard,
em Voirens, exatamente.
51
Conhecia o gerente, chamado Pulli, que, me disse ele, estava com a permanência proibida. Mas aquele homem com início de barriga e olhos de veludo parecia ser a
doçura em pessoa. Ele ciciava. A Sainte-Rose era um lugar muito "chique". Ali se encontravam os mesmos veranistas ricos do Sporting. Ali se dançava num terraço
com pérgula. Lembro-me de ter apertado Yvonne contra mim pensando que jamais poderia viver sem o cheiro da pele e dos cabelos dela, e os músicos tocavam Tuxedo
Junction.
Em suma, tínhamos sido feitos para nos conhecermos e nos entendermos.
Voltávamos para casa muito tarde e o cão dormia no salão. Desde que me instalei com Yvonne no Hermitage, sua melancolia se agravava. A cada duas ou três horas -
regularidade de metrônomo - ele dava a volta no quarto, depois ia se deitar outra vez. Antes de passar para o salão, parava alguns minutos na frente da janela
de nosso quarto, sentava-se, com as orelhas em pé, talvez acompanhando com os olhos a evolução do AmiralGuisand pelo lago ou contemplando a paisagem. Eu ficava
espantado com a discrição triste daquele animal e emocionado ao surpreendê-lo em sua função de vigilante.
Ela vestia uma saída de praia com largas listas laranja e verde e se deitava na cama, atravessada, para fumar um cigarro. Na mesa de cabeceira, ao lado de um batom
ou vaporizador, estavam sempre jogadas cédulas. De onde vinha aquele dinheiro? Há quanto tempo ela morava no Hermitage? Tinham-na instalado lá enquanto durasse
o filme. Mas agora que havia terminado? Ela queria muito - explicou - passar a "temporada" naquele local de férias. A "temporada" ia ser muito "brilhante". "Férias",
"temporada", "muito brilhante", "conde Chmara"... quem mentia a quem naquela língua estrangeira?
Mas talvez ela precisasse de uma companhia? Eu me mostrava atento, solícito, delicado, apaixonado, como se é aos 18 anos. Nas primeiras noites, quando não se discutia
sua "carreira",
52
pedia-me que lesse para ela uma ou duas páginas da História da Inglaterra de André Maurois. Toda vez que eu começava, o dogue alemão logo vinha sentar-se à
porta que conduzia ao salão e me examinava com o olho severo. Yvonne, deitada, em sua saída de praia, escutava, as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Nunca
entendi por que ela, que jamais tinha lido nada na vida, gostava daquele tratado de história. Dava-me respostas vagas: "É muito bonito, sabe", "André Maurois é
um grande escritor". Acho que encontrou a História da Inglaterra no saguão do Hermitage e que, para ela, aquele volume tinha se transformado numa espécie de talismã
ou porta-felicidade. De vez em quando, repetia "lê mais devagar"ou perguntava o significado de uma frase. Queria decorar a História da Inglaterra. Eu disse que
André Maurois ficaria contente se soubesse disso. Então ela começou a me fazer perguntas sobre esse autor. Expliquei que era um romancista judeu muito terno que
se interessava pela psicologia feminina. Uma noite, quis que eu ditasse uma mensagem: " Senhor André Maurois, eu o admiro. Estou lendo sua História da Inglaterra
e gostaria de ter um autógrafo seu. Respeitosamente. Yvonne X".
Ele nunca respondeu. Por quê?
Desde quando ela conhecia Meinthe? Desde sempre. Ele também tinha - ao que parece um apartamento em Genebra e eles quase nunca se separavam. Meinthe exercia "mais
ou menos" a medicina. Eu tinha descoberto, entre as páginas do livro de Maurois, um cartão de visita com estas três palavras gravadas: "Doutor René Meinthe" e,
na prateleira de um dos lavabos, entre os produtos de beleza, uma receita encabeçada por "Doutor R.C. Meinthe", prescrevendo um sonífero.
Aliás, toda manhã, quando acordávamos, encontrávamos uma carta de Meinthe debaixo da porta. Guardei algumas e o tempo não apagou seu perfume de vetiver. Esse perfume,
eu me perguntava se vinha do envelope, do papel ou, quem sabe, da tinta que Meinthe utilizava. Reli uma delas ao acaso: "Terei
53
acaso o prazer de vê-los esta noite? Preciso passar a tarde em Genebra. Vou lhes telefonar por volta das nove horas para o hotel. Um abraço. Seu Renê M." E esta:
"Desculpem não lhes ter dado sinal de vida. Mas não saio do quarto há 48 horas. Penso que daqui a três semanas terei 27 anos. E serei uma pessoa muito velha, muito
velha. Até muito em breve. Um abraço. Sua madrinha de guerra. René". E esta, endereçada a Yvonne e com uma caligrafia mais nervosa: "Sabe quem acabo de ver no
saguão? Aquele porco do François Maulaz. E ele quis me apertar a mão. Ah não, jamais. Jamais. Que morra!" (essa última palavra sublinhada quatro vezes). E outras
cartas ainda.
Eles muitas vezes falavam entre si de pessoas que eu não conhecia. Guardei alguns nomes: Claude Brun, Paulo Hervieu, uma certa "Rosy", Jean-Pierre Pessoz, Pierre
Fournier, François Maulaz, a "Carlton", um tal de Dudu Hendrickx que Meinthe qualificava de "porco"... Muito rapidamente compreendi que essas pessoas eram originárias
do lugar onde nos encontrávamos, lugar de férias no verão, mas que voltava a ser uma cidadezinha sem história no fim de outubro. Meinthe dizia de Brun e de Hervieu
que tinham "subido" para Paris, que "Rosy" tinha retomado o hotel do pai em La Clusaz e que aquele "sujo" do Maulaz, o filho do livreiro, chamava a atenção todo
verão no Sporting, com um associado da Comédie-Française. Toda aquela gente tinha sido, sem dúvida, amiga de infância ou de adolescência deles. Quando eu fazia
uma pergunta, Meinthe e Yvonne mostravam-se evasivos e interrompiam sua conversa à parte. Eu então me lembrava do que tinha descoberto no passaporte de Yvonne
e os imaginava os dois aos 15 ou 16 anos, no inverno, à saída do cinema Régent.
54
VII
Bastaria eu voltar a encontrar um dos programas publicados pelo departamento de turismo - capa branca sobre a qual se destacam, em verde, o Casino e a silhueta
de uma mulher sentada ao estilo de Jean-Gabriel Domergue. Lendo a lista de féstividades e suas datas exatas, eu poderia constituir pontos de referência.
Uma noite fomos aplaudir Georges Ulmer, que cantava no Sporting. Isso acontecia, acho, no início de julho, e eu devia estar morando com Yvonne há cinco ou seis
dias. Meinthe nos acompanhava. Ulmer vestia um terno azul claro e muito cremoso, em que meu olhar se enviscava. Aquele aveludado azul tinha um poder hipnótico
porque quase adormeci, fixando-o.
Meinthe nos propôs beber alguma coisa. Na semipenumbra, no meio das pessoas que dançavam, ouvi-os falar da Taça Houligant pela primeira vez. Lembrei-me do avião
com a bandeirola enigmática. A Taça Houligant preocupava Yvonne. Tratava-se de uma espécie de concurso de elegância. Segundo o que dizia Meinthe, era necessário,
para participar da Taça, ter um automóvel de luxo. Usariam o Dodge ou alugariam um carro em Genebra? (Meinthe tinha levantado a questão.) Yvonne queria tentar
a sorte. O júri se compunha de diversas personalidades:
55
o presidente do clube de golfe de Chavoire e sua mulher; o presidente do departamento de turismo; o subprefeito de Haute-Savoie; André de Fouquières (esse
nome me sobressaltou e Pedi a Meinthe que repetisse: sim, era mesmo André de Fouquières, por muito tempo conhecido como "árbitro das elegâncias"e de quem eu tinha
lido as interessantes "Memórias"); senhor e senhora Sandoz, diretores do hotel Windsor; o ex-campeão de esqui Daniel Hendrickx, proprietário de lojas de esporte
muito chiques em Megève e Alpe d'Huez (aquele que Meinthe classificava como "porco"); um cineasta cujo nome hoje me escapa (algo como Gamonge ou Gamace) e, por
fim, o dançarino José Torres.
Meinthe também estava muito excitado com a perspectiva de concorrer por essa Taça na qualidade de cavaleiro servil de Yvonne. Seu papel se limitaria a dirigir o
automóvel ao longo da grande aléia de cascalho do Sporting e estacioná-lo diante do júri. Em seguida, desceria e abriria a porta para Yvonne. Evidentemente, o dogue
alemão participaria.
Meinthe assumiu um ar misterioso e me estendeu um envelope, piscando o olho: a lista dos participantes da Taça. Eles eram os últimos na liça, o número 32. "Doutor
R.C. Meinthe e senhorita Yvonne Jacquet" (acabo de encontrar seu sobrenome). A Taça Houligant era entregue todo ano na mesma data e recompensava "a beleza e a
elegância". Os organizadores souberam criar uma badalação publicitária bastante grande em torno dela posto que - me explicou Meinthe - às vezes saía nos jornais
de Paris. Para Yvonne, segundo ele, era muito interessante Participar.
E quando deixamos a mesa para dançar, ela não pôde evitar perguntar o que eu achava: devia ou não participar daquela Taça? Grave problema. Tinha o olhar perdido.
Eu distinguia Meinthe, que tinha ficado sozinho diante de seu porto "claro". Ele tinha posto a mão esquerda diante dos olhos feito viseira. Estaria chorando?
Por instantes, Yvonne e ele pareciam vulneráveis e desorientados (desorientados é o termo exato).
56
Mas é claro que ela devia participar da Taça Houligant. Com certeza. Era importante para a carreira dela. Com um pouco de sorte, seria Miss Houligant. Mas é claro.
Aliás, todas começavam assim.
Meinthe decidiu usar o Dodge. Se fosse polido na véspera da Taça, aquele modelo ainda faria boa impressão. A capota bege estava quase nova.
À medida que os dias passavam e nos aproximávamos do domingo, 9 de julho, Yvonne dava cada vez mais sinais de nervosismo. Virava copos, não ficava quieta, falava
asperamente com o cachorro. E este lhe lançava um olhar de doce misericórdia.
Meinthe e eu tentávamos tranqüilizá-la. A Taça com certeza seria menos desgastante para ela do que a filmagem. Cinco minutinhos. Alguns passos diante do júri. Nada
mais. E em caso de insucesso, o consolo de poder dizer-se que, entre todas as concorrentes, era a única que já tinha feito cinema. Uma profissional, de certo modo.
Não devíamos ser apanhados de surpresa e Meinthe nos propôs um ensaio geral, na sexta-feira à tarde, ao longo de uma grande aléia sombreada, atrás do hotel Alhambra.
Sentado numa cadeira de jardim, eu representava o júri. O Dodge avançava lentamente. Yvonne exibia um sorriso crispado, Meinthe dirigia com a mão direita. O cachorro
estava de costas para eles e se mantinha imóvel, de figura de proa.
Meinthe parou bem na minha frente e, apoiando-se com a mão esquerda na porta, num pulo nervoso, saltou por cima. Caiu com elegância, as pernas fechadas, o busto
erguido. Depois de esboçar uma saudação de cabeça, contornou o Dodge a passos miúdos e abriu com um gesto seco a porta de Yvonne. Ela saiu, segurando a coleira
do cão, e deu alguns passos tímidos. O dogue alemão mantinha a cabeça baixa. Retomaram seus lugares e Meinthe saltou de novo por cima da porta, para se recolocar
ao volante. Admirei sua agilidade.
57
Ele estava bastante decidido a repetir a façanha diante do júri. Iam ver a cara do Dudu Hendrickx.
Na véspera, Yvonne quis tomar champanhe. Teve um sono agitado. Era aquela menininha que quase chora antes de subir ao estrado no dia da festa da escola.
Meinthe tinha marcado encontro conosco no saguão às dez em ponto da manhã. A Taça começava ao meio-dia, mas ele precisava de tempo para acertar alguns detalhes:
exame geral do Dodge, conselhos diversos a Yvonne, e talvez também alguns exercícios de agilidade.
Fez questão de assistir aos últimos preparativos de Yvonne: ela hesitava entre um turbante rosa fúcsia e um grande chapéu de palha. "O turbante, querida, o turbante",
resolveu ele, excedendo-se na voz. Ela tinha escolhido um vestido tipo mantô em tecido branco. Meinthe, por sua vez, vestia um terno de xantungue cor de areia.
Eu me lembro das roupas.
Saímos, Yvonne, Meinthe, o cão e eu, debaixo do sol. Uma manhã de julho como nunca vi depois. Um vento ligeiro agitava a grande bandeira presa no topo de um mastro,
diante do hotel. Cores azul e ouro. A que país pertenciam?
Descemos na banguela o bulevar Carabacel. Os automóveis dos outros concorrentes já estavam estacionados, de cada lado da aléia muito larga que levava ao Sporting.
Ouviriam seus nomes e seu número graças a um alto-falante e deveriam logo se apresentar diante do júri. Este ficava na varanda do restaurante. Como a aléia terminava
num anel, num plano inferior, ele teria uma visão profunda da manifestação.
Meinthe tinha mandado eu me colocar o mais próximo possível dos jurados e observar o desenvolvimento da Taça nos mínimos detalhes. Eu tinha que vigiar principalmente
o rosto de Dudu Hendrickx enquanto Meinthe se desincumbia de seu número de altos volteios. Se houvesse necessidade, eu poderia fazer algumas anotações.
58
Esperávamos, sentados no Dodge. Yvonne, com a testa quase colada no retrovisor, verificava a maquiagem. Meinthe tinha posto estranhos óculos escuros de armação
de aço e batia no queixo e nas têmporas com o lenço. Eu acariciava o cachorro que nos lançava, a um de cada vez, olhares desolados. Estávamos parados ao lado de
uma quadra de tênis onde quatro jogadores - dois homens e duas mulheres - disputavam uma partida e, querendo distrair Yvonne, mostrei a ela que um dos tenistas
se parecia com o ator cômico francês Fernandel. "E se for ele?", sugeri. Mas Yvonne não me escutava. Suas mãos tremiam. Meinthe escondia sua ansiedade com uma tossida.
Ele ligou o rádio, que cobriu o barulho monótono e exasperante das bolas de tênis. Permanecíamos imóveis, os três, o coração batendo, escutando um noticiário.
Enfim o alto-falante anunciou: "Pede-se aos caros concorrentes à Taça Houligant de elegância que se preparem." E dois ou três minutos mais tarde: "Os concorrentes
número um, senhor e senhora Jean Hatmer!" Meinthe teve um ricto nervoso. Beijei Yvonne e lhe desejei boa sorte, e me dirigi por um desvio, rumo ao restaurante
do Sporting. Também me sentia bastante emocionado.
O júri estava atrás de uma fileira de mesas de madeira branca, cada uma munida de um guarda-sol verde e vermelho. Em toda a volta, um grande número de espectadores
se comprimia. Uns tinham a sorte de estar sentados, consumindo aperitivos, outros estavam de pé, em roupa de praia. Insinuei-me o mais próximo possível dos jurados,
como queria Meinthe, para vigiá-los.
Logo reconheci André de Fouquières, cuja fotografia eu tinha visto na capa de suas obras (os livros preferidos de meu pai. Ele os tinha recomendado e me deram
grande prazer). Fouquières usava um panamá, amarrado com uma fita de seda azul-marinho. Apoiava o queixo na palma da mão direita e seu rosto exprimia uma elegante
lassidão. Ele se entediava. Em sua idade, todos aqueles veranistas de biquínis e maiôs leopardo
59
lhe pareciam marcianos. Ninguém com quem falar de Émilienne d'Alençon ou de La Gandara. Com exceção de mim, se a ocasião se apresentasse.
O qüinquagenário de cabeça leonina, cabelos louros (pintava?) e pele queimada: Dudu Hendrickx, na certa. Falava sem parar com os vizinhos e ria alto. Tinha o olho
azul e emanava dele uma saudável e dinâmica vulgaridade. Uma mulher morena, de aspecto muito burguês, dirigia ao ex-esquiador sorrisos cúmplices: a presidente
do golfe de Chavoire ou a do departamento de turismo? A senhora Sandoz? Gamange (ou Gamonge), o homem do cinema, devia ser aquele sujeito de óculos de tartaruga
e roupas de cidade: jaquetão cruzado cinza com finas listras brancas. Se faço um esforço, aparece um personagem de cerca de cinqüenta anos, de cabelo cinza-azulado
ondulado e boca gulosa. Empinava o nariz no vento, e o queixo também, sem dúvida querendo parecer enérgico e tudo supervisionar, O subprefeito? Sr. Sandoz? E
o dançarino José Torres? Não, ele não tinha vindo.
Já um Peugeot 203 conversível cor grená avançava ao longo da aléia, parava no meio do anel e uma mulher num vestido bufante na cintura punha o pé no chão, com
um canicho anão debaixo do braço. O homem permanecia ao volante. Ela dava alguns passos diante do júri. Calçava sapatos pretos de salto agulha. Uma loura oxigenada,
como aquelas de que devia gostar o ex-rei Faruk do Egito, de que tantas me falou meu pai e cuja mão ele dizia ter beijado. O homem do cabelo cinza-azulado ondulado
anunciou: "Senhora Jean Hatmer", com uma voz dental, e sua boca moldava as sílabas desse nome. Ela soltou o canicho anão, que caiu sobre as patas, e andou mais
ou menos tentando imitar as modelos num desfile de alta costura: olhar vazio, cabeça flutuante. Em seguida, retomou seu lugar, no Peugeot. Aplausos tímidos. Seu
marido usava penteado à escova. Eu notei seu rosto tenso. Ele deu marcha à ré, depois uma hábil meia-volta e se via que para ele era questão de honra dirigir o
melhor possível. Deve ter lustrado ele mesmo seu Peugeot
60
para que brilhasse tanto. Decidi que se tratava de um casal jovem; ele, engenheiro, vindo de uma boa família burguesa, ela, de extração mais modesta: todos dois
muito esportivos. E, com meu hábito de tudo situar, imaginei-os morando num pequeno apartamento cosy da rua Docteur-Blanche, em Auteuil.
Sucederam-se outros concorrentes. Esqueci-os, ai de mim, com poucas exceções. Aquela eurasiana de trinta anos, mais ou menos, por exemplo, que acompanhava um homem
gordo e vermelho. Estavam num Nash conversível, cor verde água. Quando ela saiu do carro, deu um passo de autômato na direção do júri e parou. Foi tomada por um
tremor nervoso. Lançava olhares enlouquecidos a sua volta, sem mexer a cabeça. O gordo vermelho dentro do Nash a chamava "Monique... Monique... Monique..." e
poder-se-ia dizer que era um queixume, uma reza para domesticar um animal exótico e arisco. Ele saiu, por sua vez, e a puxou pela mão. Levou-a gentilmente ao assento.
Ela explodiu em soluços. Ele então deu a partida cantando pneu e ao virar só faltou varrer o júri. E aquele casal de sexagenários simpáticos cujos nomes gravei:
Jackie e Tounette Roland-Michel. Chegaram a bordo de um Studebaker cinza e se apresentaram juntos diante do júri. Ela, uma ruiva grande de rosto enérgico e cavalar,
de roupa de tênis. Ele, de estatura mediana, bigodinho, nariz importante, sorriso zombeteiro, físico de francês de verdade, como o imaginaria um produtor californiano.
Personalidades, com certeza, posto que o sujeito de cabelo cinza-azulado tinha anunciado: "Nossos amigos Tounette e Jackie Roland-Michel". Três ou quatro membros
do júri (entre os quais a mulher morena e Daniel Hendrickx) tinham aplaudido. Fouquières, de sua parte, sequer se deu o trabalho de honrá-los com um olhar. Eles
fizeram um cumprimento inclinando a cabeça, num movimento sincronizado. Comportaram-se bem e tinham os dois uma aparência muito satisfeita.
"Número 32. Senhorita Yvonne Jacquet e doutor René Meinthe." Pensei que fosse desmaiar. Em primeiro lugar, já não via mais nada, como se tivesse me levantado bruscamente,
61
depois de ter passado o dia inteiro deitado num sofá. E a voz que pronunciava seus nomes repercutia de todos os lados. Eu me apoiava no ombro de alguém, sentado
a minha frente, e me dei conta tarde demais de que se tratava de André de Fouquières. Ele se virou. Gaguejei umas desculpas moles. Impossível descolar minha mão
de seu ombro. Tive que me inclinar para trás, trazer pouco a pouco meu braço de volta contra o peito, crispando-me para combater um langor de chumbo. Não os vi
chegar no Dodge. Meinthe tinha parado o automóvel diante do júri. Os faróis estavam acesos. Meu mal-estar dava lugar a uma espécie de euforia e eu percebia as coisas
de maneira mais aguda que nos momentos normais. Meinthe buzinou três vezes e li nos rostos de diversos membros do júri um ligeiro espanto. O próprio Fouquières
pareceu interessado. Daniel Hendrickx sorria mas, em minha opinião, forçado. Aliás, aquilo era mesmo um sorriso? Não, chacota congelada. Eles não se moviam do
carro. Meinthe apagava e depois acendia outra vez os faróis. Aonde queria chegar? Pôs em movimento os limpadores de párabrisa. O rosto de Yvonne estava limpo, impenetrável.
E, de repente, Meinthe saltou. Um murmúrio percorreu o júri, os espectadores. Aquele salto não tinha comparação com o do "ensaio" da sexta-feira. Ele não se contentou
com passar por sobre a porta, mas pulou, ergueu-se no ar, jogou as pernas num movimento seco, caiu com agilidade, tudo num só impulso, numa só descarga elétrica.
E eu sentia tanta raiva, nervosismo e provocação quimérica naquilo que o aplaudi. Ele dava a volta em torno do Dodge, às vezes parando, congelando, como se andasse
por um campo minado. Todos os membros do júri observavam de boca aberta. Tinha-se a certeza de que ele corria perigo e quando, enfim, abriu a porta, alguns soltaram
um suspiro de alívio.
Ela saiu em seu vestido branco. O cachorro a seguiu, num salto preguiçoso. Mas ela não caminhou para lá e para cá na frente do júri como tinham feito as outras
concorrentes. Apoiouse na capota e ficou lá, a examinar Fouquières, Hendrickx, os outros, um sorriso insolente nos lábios. E num gesto imprevisível
62
arrancou o turbante e o jogou displicentemente para trás. Passou uma das mãos pelos cabelos para estendê-los sobre os ombros. O cachorro, por sua vez, pulou para
cima do Dodge e logo assumiu sua posição de esfinge. Ela o acariciava com a mão distraída. Meinthe, atrás, esperava ao volante.
Hoje, quando penso nela, é essa imagem que me vem com mais freqüência. Seu sorriso e seus cabelos ruivos. O cão branco e preto ao lado dela. O Dodge bege. E Meinthe,
que mal se distingue por trás do pára-brisa do automóvel. E os faróis acesos. E os raios de sol.
Lentamente, ela deslizou até a porta e a abriu sem tirar os olhos do júri. Retomou seu lugar. O cachorro saltou para o banco. de trás tão casualmente que me parece,
quando reconstituo essa cena em detalhe, vê-lo saltar em câmera lenta. E o Dodge - mas talvez não se deva confiar nas lembranças - sai do anel em marcha à ré.
E Meinthe (esse gesto também figura num filme tomado em câmera lenta) lança uma rosa. Ela cai sobre o paletó de Daniel Hendrickx, que a apanha e olha fixamente,
idiotizado. Não sabe o que fazer com ela. Nem ousa pô-la sobre a mesa. Enfim, dá uma gargalhada estúpida e a oferece a sua vizinha, a mulher morena cuja identidade
ignoro, mas que deve ser esposa do presidente do departamento de turismo, ou do presidente do golfe clube de Chavoires. Ou, quem sabe? Senhora Sandoz.
Antes de o carro entrar na aléia, Yvonne se vira e acena com o braço para os membros do júri. Acho até que ela manda um beijo a todos.
Eles deliberam em voz baixa. Três professores de natação do Sporting nos pediram delicadamente que nos afastássemos alguns metros, para não infringir o sigilo
da discussão. Os jurados tinham, cada um diante de si, uma folha onde figuravam o nome e o número dos diversos concorrentes. E tinham que pôr uma nota, à medida
que iam passando.
63
Eles rabiscam uma coisa qualquer em pedaços de papel, dobram-nos. Em seguida, fazem uma pilha dos boletins, Hendrickx os arruma e rearruma com as mãozinhas de
manicure que contrastam com a largura de seus ombros e sua grossura. Fica também encarregado do exame. Anuncia nomes e números: Hatmer, 14; Tissot, 16; Roland-Michel,
17; Azuelos, 12; mas é inútil atentar na escuta, não entendo a maioria dos nomes. O homem das ondulações e da boca gulosa inscreve os números numa caderneta. Eles
ainda entretêm um animado conciliábulo. Os mais veementes são Hendrickx, a mulher morena e o homem dos cabelos cinza-azulados. Este sorri sem cessar, para exibir
- suponho - uma carreira de dentes soberbos e lança a sua volta olhares que deseja serem charmosos: rápidas batidas de cílios com as quais busca parecer cândido
e maravilhado com tudo. Boca que avança, impaciente. Um gastrônomo, com certeza. E também o que na gíria se chama de "viciado". Deve existir uma rivalidade entre
ele e Dudu Hendrickx. Eles disputam as conquistas femininas, eu poderia jurar. Mas no momento, afetam o ar grave e responsável de membros de um conselho de administração.
Fouquières, por sua vez, se desinteressa completamente daquilo tudo. Rabisca sua folha de papel, com as sobrancelhas franzidas numa expressão de arrogância irônica.
O que vê? Com que cena do passado sonha? Com sua última entrevista com Lucie Delarue-Mardrus? Hendrickx se inclina para ele, muito respeitoso, e lhe faz uma pergunta.
Fouquières responde sem querer olhá-lo. Depois Hendrickx vai questionar Ganonge (ou Gamange), o "cineasta", sentado à última mesa à direita. Volta na direção
do homem de cabelos cinza-azulados. Eles têm uma breve altercação e os ouço pronunciar diversas vezes o nome "Roland-Michel". Enfim o "cinza-azul ondulado" - chamálo-ei
assim - avança na direção de um microfone e anuncia numa voz glacial:
- Senhoras e senhores, dentro de um minuto vamos dar os resultados desta Taça Houligant de elegância.
64
O mal-estar volta a tomar conta de mim. Tudo se embaça a minha volta. Pergunto-me onde podem estar Yvonne e Meinthe. Esperam no lugar onde os deixei, ao lado da
quadra de tênis? E se tivessem me abandonado?
- Por cinco votos a quatro - a voz do "cinza-azul ondulado" sobe, sobe. - Eu repito: por cinco votos a quatro para nossos amigos Roland-Michel (ele pronunciou nossos
amigos martelando as sílabas e sua voz está agora tão aguda quanto a de uma mulher), conhecidos e apreciados por todos e cujo espírito esportivo quero saudar...
e que teriam merecido - é o que penso, pessoalmente - levar esta taça da elegância... (ele deu um soco na mesa, mas sua voz ficava cada vez mais alquebrada)...
a taça foi concedida (ele faz uma pausa), à senhorita Yvonne Jacquet, que estava acompanhada do senhor René Meinthe... Confesso, eu tinha lágrimas nos olhos.
Eles tinham que se apresentar uma última vez diante do júri e receber a taça. Todas as crianças da praia tinham se reunido aos outros espectadores e esperavam,
superexcitadas. Os músicos da orquestra do Sporting tinham tomado seu lugar habitual, debaixo do grande dossel verde e branco, no meio do terraço. Afinavam os
instrumentos.
O Dodge surgiu. Yvonne estava meio inclinada sobre a capota. Meinthe dirigia lentamente. Ela pulou para o chão e avançou, muito timidamente, até o júri. Aplaudiram
muito.
Hendrickx desceu na direção dela brandindo a taça. Entregou-a a ela e a beijou nas duas bochechas. E depois outras pessoas vieram felicitá-la. O próprio André de
Fouquières apertou sua mão e ela não sabia quem era aquele velho senhor. Meinthe foi ter com ela. Percorria com o olhar o terraço do Sporting e logo me notou.
Gritou: "Victor... Victor" e fez sinais ostensivos para mim. Corri na direção deles. Estava salvo. Gostaria de beijar Yvonne, mas ela já estava cercada. Alguns
serventes,
cada um levando duas bandejas de taças de champanhe,
65
tentavam abrir passagem.A assembléia brindava, bebia, tagarelava sob o sol. Meinthe permanecia a meu lado, mudo e impenetrável atrás dos óculos escuros. A alguns
metros de mim, Hendrickx, muito agitado, apresentava a Yvonne a mulher morena, Gamonge (ou Ganonge) e duas ou três pessoas. Ela pensava em outra coisa. Em mim?
Eu não ousava acreditar.
Todo mundo ficava mais e mais alegre. Riam. Interpelavam-se, comprimiam-se uns contra os outros. O maestro da orquestra dirigiu-se a Meinthe e a mim para saber que
"peça" deveria executar em homenagem à taça e à "charmosa vencedora". Ficamos um instante atrapalhados, mas como provisoriamente eu me chamava Chmara e sentia
o coração cigano, pedi que tocassem Olhos negros,
Uma "noitada" na Sainte-Rose estava prevista, para festejar aquela quinta Taça Houligant e Yvonne, a vencedora do dia. Ela escolheu um vestido delamê ouro velho
para vestir.
Ela tinha posto a taça sobre a mesa de cabeceira, ao lado do livro de Maurois. Aquela taça era, na realidade, uma estatueta representando uma dançarina na ponta
do pé sobre uma pequena base onde tinham gravado em letras góticas: "Taça Houligant. 12 prêmio". Mais embaixo o número do ano.
Antes de ir, ela a acariciou com a mão, depois se pendurou em meu pescoço.
- Você não acha isso maravilhoso? perguntou. Quis que eu pusesse o monóculo e aceitei, pois aquela não era uma noite como as outras.
Meinthe usava um terno verde claro muito suave, muito fresco. Durante todo o trajeto até Voirens, zombou dos membros do júri. O "cinza-azul ondulado"chamava-se
Raoul Fossorié e dirigia o departamento de turismo. A mulher morena era casada com o presidente do clube de golfe de Chavoires: sim, na época, estava flertando
com aquele "boi gordo", o Dudu Hendrickx. Meinthe o detestava. Um personagem. dizia ele, que há trinta anos brincava graciosamente nas pistas de esqui. (Pensei
no herói de Liebesbriefe aufdem Berg, o filme de Yvonne); Hendrickx tinha feito em 1943 as belas noites de L'Équipe e do Chamais de Megève, mas hoje estava
chegando aos cinqüenta e cada vez mais se parecia com um "sátiro". Meinthe pontuava seu discurso com "Não é, Yvonne?" irônicos e carregados de subentendidos.
Por quê? E como Yvonne e ele tinham tanta familiaridade com aquela gente toda?
Quando aparecemos na pérgula da Sainte-Rose, umas palmas fracas saudaram Yvonne. Vinham de uma mesa de cerca de dez pessoas, entre as quais Hendrickx, no trono.
Este nos apontava. Um fotógrafo levantou-se e nos ofuscou com seu flash. O gerente, aquele chamado Pulli, puxava três cadeiras para nós, depois voltava e, com
muito zelo, estendia uma orquídea a Yvonne. Ela agradecia.
- Neste grande dia, a honra é minha, senhorita. E bravo! Ele tinha sotaque italiano. Curvava-se à frente de Meinthe. - Senhor?... - dizia-me ele, o sorriso enviesado,
sem dúvida incomodado por não poder me chamar pelo nome.
- Victor Chmara. - Ah... Chmara...? Aparentava surpresa e franzia as sobrancelhas. - Senhor Chmara...
- Sim. Lançava-me um olhar estranho. - Já já estarei à sua disposição, senhor Chmara... E se dirigia rumo à escada que levava ao bar do térreo. Yvonne estava
sentada ao lado de Hendrickx e nós nos encontrávamos, Meinthe e eu, em frente a eles. Eu reconhecia, entre meus vizinhos, a mulher morena do júri, Tounette e Jackie
Roland-Michel, um homem de cabelos grisalhos muito curtos e de rosto enérgico de ex-aviador ou militar: o diretor do clube de golfe, com certeza. Raoul Fossorié
estava no fim da mesa e mordiscava um palito de fósforo. As três ou quatro outras pessoas, entre as quais duas louras muito bronzeadas, eu estava vendo pela primeira
vez.
67
vv
Não havia muita gente, naquela noite, na Sainte-Rose. Ainda era cedo. A orquestra tocava uma canção que se ouvia muito e cuja letra um dos músicos sussurrava:
L'amour, c'est comme un jour Ça s 'en va, ça s 'en va L'amour
Hendrickx tinha envolvido com o braço direito as espáduas de Yvonne e eu me perguntava aonde queria chegar. Virava-me para Meinthe. Ele se escondia atrás de outro
par de óculos escuros, com armação maciça de tartaruga, e nervosamente tamborilava na tábua da mesa. Eu não ousava lhe dirigir a palavra.
- Então, contente de estar com sua taça? - perguntou Hendrickx com uma voz carinhosa.
Yvonne me lançava um olhar aborrecido. - Foi um pouco graças a mim... Mas claro, aquele devia ser um bom sujeito. Por que eu estava sempre desconfiando do primeiro
que aparecia?
- Fossorié não queria. Hein, Raoul? Você não queria... E Hendrickx caía na gargalhada. Fossorié dava uma tragada no cigarro. Afetava grande calma.
- Nada disso, Daniel, nada disso. Você está enganado... E moldava as sílabas de um modo que eu achava obsceno. "Hipócrita!", exclamava Hendrickx sem maldade alguma.
Essa réplica fazia rir a mulher morena, as duas louras bronzeadas (o nome de uma delas me volta de repente: Meg Devillers) e até o sujeito com cara de ex-oficial
da cavalaria. Os Roland-Michel, por sua vez, esforçavam-se por compartilhar a hilaridade dos outros, mas sem vontade. Yvonne me piscava o olho. Meinthe continuava
tamborilando.
- Seus favoritos - continuava Hendrickx - eram Jackie e Tounette... Hein, Raoul? - Depois, voltando-se para Yvonne:
Você devia apertar a mão dos nossos amigos Roland-Michel, Seus infelizes concorrentes...
68
Yvonne o fez. Jackie ostentava uma expressão jovial, mas Tounette Roland-Michel olhou Yvonne diretamente nos olhos. Parecia estar com raiva dela.
- Um de seus pretendentes? - perguntou Hendrickx. Ele me apontava.
- Meu noivo - respondeu arrogantemente Yvonne. Meinthe levantou a cabeça. A bochecha esquerda e a fenda dos lábios de novo foram tomadas pelos tiques.
- Tínhamos esquecido de lhe apresentar nosso amigo - disse ele numa voz afetada. - O conde Victor Chmara...
Pronunciara "conde" insistindo nas sílabas e fazendo uma pausa. Em seguida, voltando-se para mim:
- O senhor tem diante de si um dos ases do esqui francês: Daniel Hendrickx.
Este sorriu, mas senti que suspeitava das reações imprevisíveis de Meinthe. Com certeza o conhecia de longa data.
- É claro, meu caro Victor, o senhor é jovem demais para que este nome lhe diga alguma coisa - acrescentou Meinthe.
Os outros esperavam. Hendrickx se preparava para receber o golpe com fingida indiferença.
- Suponho que o senhor não era nascido quando Daniel Hendrickx ganhou a modalidade combinada...
- Por que o senhor diz coisas assim, René? - perguntou Fossorié num tom muito doce, muito oleoso, moldando ainda mais as sílabas, a tal ponto que se poderia esperar
que saíssem de sua boca aqueles doces puxa-puxa que se compra nas feiras.
- Eu estava lá quando ele ganhou o slalom e o combinado - declarou uma das louras bronzeadas, a que se chamava Meg Devillers - não faz tanto tempo...
Hendrickx deu de ombros e, como a orquestra tocava os primeiros compassos de uma música lenta, ele aproveitou para convidar Yvonne para dançar. Fossorié os seguiu,
acompanhado de Meg Devillers. O diretor do clube de golfe levou a outra loura bronzeada. E os Roland-Michel, por sua vez, avançaram
69
para a pista. Estavam de mãos dadas. Meinthe curvou-se diante da mulher morena:
- Então, nós também, vamos dançar um pouco... Fiquei sozinho à mesa. Não tirava os olhos de Yvonne e Hendrickx. De longe, ele tinha uma certa presença: media em
torno de um metro e oitenta, 85, e a luz que envolvia a pista azul, com uma pitada de rosa - adocicava seu rosto, apagava dele o empastamento e a vulgaridade.
Ele comprimia Yvonne. O que fazer? Quebrar-lhe a cara? Minhas mãos tremiam. Eu podia, é claro, beneficiar-me do efeito surpresa e lhe assentar um murro no meio
da cara. Ou então, me aproximaria por trás e lhe quebraria uma garrafa no crânio. Para quê? Em primeiro lugar me tornaria ridículo para Yvonne. E, depois, essa
conduta não correspondia a meu temperamento dócil, a meu pessimismo natural e a uma certa frouxidão minha.
A orquestra emendou outra música lenta e nenhum dos casais deixou a pista. Hendrickx apertava Yvonne ainda mais. Por que ela o deixava fazer aquilo? Eu espreitava
por uma piscadela que ela me lançasse às escondidas, um sorriso de conivência. Nada. Pulli, o gordo gerente aveludado, aproximou-se prudentemente de minha mesa.
Ficou bem a meu lado, apoiouse no espaldar de uma das cadeiras vazias. Queria falar comigo. A mim, aquilo aborrecia.
- Senhor Chmara... Senhor Chmara... Por educação, virei-me para ele. - Diga-me, o senhor é parente dos Chmara de Alexandria? Ele se debruçava, o olho ávido, e
entendi por que eu tinha escolhido esse nome, que eu achava que tinha saído de minha imaginação: ele pertencia a uma família de Alexandria, de que meu pai me
falava com freqüência.
- Sim. São meus parentes - respondi. - Então o senhor é originário do Egito? - Um pouco. Ele sorriu emocionado. Queria saber mais sobre isso, e eu poderia ter
lhe falado da vila de Sidi-Birsh onde passei alguns
70
anos da infância, do palácio de Abdine e do albergue das Pyram ides, de que guardo uma lembrança muito vaga. Perguntar-lhe, por outro lado, se ele era parente de
um dos conhecidos de meu pai, aquele Antonio Pulli, que tinha a função de confidente e de "secretário" do rei Faruk. Mas estava por demais ocupado com Yvonne e
Hendrickx.
Ela continuava a dançar com aquele sujeito velhusco que, com certeza, pintava o cabelo. Mas talvez ela o fizesse por uma razão precisa que me revelaria quando
estivéssemos sozinhos. Ou talvez, assim, por nada? E se tivesse me esquecido? Nunca senti muita confiança em minha identidade e o pensamento de que não mais me
reconheceria aflorou em mim. Pulli tinha se sentado no lugar de Meinthe:
- Conheci Henri Chmara, no Cairo... Nós nos encontrávamos todas as noites no Chez Groppi ou no Mena House.
Dir-se-ia que me confiava segredos de estado. - Espere... foi no ano em que o rei estava com aquela cantora francesa... Sabe?...
- Ah, sim... Falava cada vez mais baixo. Temia policiais invisíveis. - E o senhor, morou lá?... Os projetores que iluminavam a pista lançavam somente uma fraca
luz cor-de-rosa. Um instante, perdi de vista Yvonne e Hendrickx, mas voltaram a aparecer atrás de Meinthe, Meg Devillers, Fossorié e Tounette Roland-Michel. Esta
fez um comentário por cima do ombro do marido. Yvonne caiu na gargalhada.
- O senhor entende, não se pode esquecer o Egito... Não... Há noites em que me pergunto o que estou fazendo aqui...
Eu também, de repente me fazia aquela pergunta. Por que não fiquei nos Tilleuls lendo meus livros e minhas revistas de cinema? Ele pousou a mão no meu ombro.
-Não sei o que daria para estar na varanda do Pastroudis... Como esquecer o Egito?
- Nem deve existir mais - murmurei.
- O senhor acha mesmo? Lá, Hendrickx se aproveitava da meia penumbra e lhe passava a mão nas nádegas.
Meinthe voltava para nossa mesa. Sozinho. A mulher morena dançava com outro cavalheiro. Deixou-se cair sobre a cadeira.
- Do que estão falando? - Tinha tirado os óculos escuros e me olhava, sorrindo gentilmente: - Tenho certeza de que Pulli estava lhe contando suas histórias de Egito...
- O senhor Chmara é de Alexandria, como eu - declarou secamente Pulli.
- O senhor, Victor? Hendrickx tentava beijá-la no pescoço, mas ela o impedia. Ela se jogava para trás.
- Pulli tem esta boate há dez anos - dizia Meinthe. - No inverno trabalha em Genebra. Pois nunca conseguiu se acostumar com as montanhas.
Ele tinha notado que eu olhava Yvonne dançar e tentava desviar minha atenção.
- Se vier a Genebra no inverno - dizia Meinthe - vou ter que levá-lo nesse lugar, Victor. Pulli reconstituiu exatamente um restaurante que existia no Cairo. Como
é que se chamava mesmo?
- Le Khédival.
- Quando está lá, ele acha que ainda está no Egito e sente um pouco menos de saudade. Não é, Pulli?
- Montanhas de merda! "Não precisa ter saudade", cantarolava Meinthe. "Saudade jamais. Saudade jamais. Jamais."
Continuavam lá com outra dança; Meinthe se inclinou em minha direção:
Não dê atenção, Victor.
72
Os Roland-Michel reuniram-se a nós. Depois, Fossorié e a loura Meg Devillers. Enfim, Yvonne e Hendrickx. Ela veio sentar-se a meu lado e me segurou a mão. Portanto,
não tinha me esquecido. Hendrickx me examinava com curiosidade.
- Então, o senhor é noivo de Yvonne?
- É - disse Meinthe, sem me deixar tempo para responder. - E se tudo der certo, ela logo vai se chamar condessa Yvonne Chmara. O que acha?
Ele o provocava, mas Hendrickx continuava sorrindo.
- Soa melhor que Yvonne Hendrickx, não? acrescentou Meinthe.
- E o que faz esse moço na vida? perguntou Hendrickx num tom pomposo.
- Nada - disse eu, enfiando o monóculo em torno do olho esquerdo. - NADA, NADA.
- Você, sem dúvida, achava que esse moço fosse professor de esqui ou comerciante, como você? -continuava Meinthe.
- Cale a boca, ou quebro-o em mil pedaços - disse Hendrickx, e não se sabia se era ameaça ou brincadeira.
Yvonne, com a unha do indicador, arranhava a palma de minha mão. Pensava em outra coisa. Em quê? A chegada da mulher morena, de seu marido de rosto enérgico, e
a chegada simultânea da outra loura, nada distenderam a atmosfera. Cada um lançava olhares de viés em direção a Meinthe. O que ia fazer? Insultar Hendrickx? Jogar-lhe
um cinzeiro no rosto? Provocar um escândalo? O diretor do clube de golfe acabou dizendo, em tom de conversa social:
- O senhor continua praticando em Genebra, doutor? Meinthe respondeu com aplicação de bom aluno: - Com certeza, senhor Tessier. - É incrível como o senhor me
lembra seu pai... Meinthe deu um sorriso triste. - Oh. Não. Não diga isso... meu pai era bem melhor que eu. Yvonne apoiava seu ombro contra o meu e esse simples
contato me transtornava. E ela, quem era o pai dela? Se Hendrickx lhe tinha simpatia (ou melhor, se a apertava demais
73
ao dançar), eu notava que Tessier, sua mulher e Fossorié não prestavam atenção alguma nela. Os Roland-Michel também não. Cheguei a surpreender uma expressão de
divertido desprezo da parte de Tounette Roland-Michel depois que Yvonne apertou sua mão. Yvonne não pertencia ao mesmo mundo que eles. Ao contrário, pareciam
considerar Meinthe como igual e demonstravam para com ele certa indulgência. E eu? Não era, aos olhos deles, apenas um teenager ardendo de rock and roll? Talvez
não. Minha seriedade, meu monóculo e meu título nobiliário os intrigavam um pouco. Sobretudo a Hendrickx.
- O senhor foi campeão de esqui?- perguntei. - Foi - disse Meinthe - mas isso perde-se na noite dos tempos.
- Imagine - me disse Hendrickx , pousando a mão em meu antebraço - que conheci esse fedelho - ele apontava para Meinthe - quando ele tinha cinco anos. Ele brincava
de boneca.
Felizmente, estourou um cha-cha-cha naquele instante. Passava da meia-noite e os clientes chegavam às pencas. Acotovelavam-se na pista de dança. Hendrickx chamou
Pulli de longe:
- Vá nos buscar champanhe e avisar a orquestra. Piscava o olho para Pulli, que respondia com uma saudação vagamente militar, com o indicador acima da sobrancelha.
-Doutor, o senhor acha que aspirina é recomendável para problemas circulatórios? - perguntava o diretor do clube de golfe. Li algo no gênero na Ciência e Vida.
Meinthe não tinha escutado. Yvonne apoiava a cabeça em meu ombro. A orquestra parou. Pulli trazia uma bandeja, com taças e duas garrafas de champanhe. Hendrickx
se levantava e agitava o braço. Os casais que dançavam e os outros clientes voltaram-se para nossa mesa:
- Senhoras e senhores - clamava Hendrickx -, vamos beber à saúde da feliz ganhadora da Taça Houligant, senhorita Yvonne Jacquet.
Fazia sinal para Yvonne se levantar. Estávamos todos de
74
pé. Brindamos e como eu sentia os olhares fixos sobre nós, simulei um acesso de tosse.
- E agora, senhoras e senhores - continuou Hendrickx num tom enfático -, peço-lhes palmas para a jovem e deliciosa Yvonne Jacquet.
Ouviam-se "bravos" detonando a toda volta. Ela se comprimia de encontro a mim, intimidada. Meu monóculo tinha caído. Os aplausos se prolongavam e eu não ousava
me mover um centímetro. Fixava, diante de mim, a cabeleira volumosa de Fossorié, suas sábias e múltiplas ondulações que se entrecruzavam, aquela curiosa cabeleira
azul-cinza que se assemelhava a um elmo trabalhado.
A orquestra retomou a música interrompida. Um cha-chacha muito lento, em que se reconhecia o tema de Abril em Portugal.
Meinthe se levantou: - Se o senhor não vê inconveniente, Hendrickx (ele o chamava de senhor pela primeira vez), vou deixá-lo, bem como a esta elegante companhia.
- Voltou-se para Yvonne e para mim: - Levo vocês?
Respondi um "sim" dócil. Yvonne levantou-se, por sua vez. Apertou a mão de Fossorié e do diretor de golfe, mas não ousava mais cumprimentar os Roland-Michel nem
as duas louras bronzeadas.
- E para quando é esse casamento? perguntou Hendrickx, apontando para nós.
- Logo que tivermos deixado este sujo vilarejo francês de merda - respondi, muito rapidamente. Todos me olharam de boca aberta.
Por que falei de maneira tão estúpida e grosseira de um vilarejo francês? Ainda me pergunto e peço desculpas. Até Meinthe pareceu magoado por ter escutado aquilo
de mim.
- Vem - disse Yvonne, pegando-me pelo braço.
75
Hendrickx perdeu a voz e me examinou com os olhos arregalados. Sem querer, empurrei Pulli.
- O senhor está indo embora, senhor Chmara? Ele tentava me segurar, apertando-me a mão.
- Vou voltar, vou voltar disse a ele. - Oh, sim, por favor. Voltaremos a falar de todas essas coisas...
E fazia um gesto evasivo. Atravessamos a pista. Meinthe andava atrás de nós. Graças a um jogo de projetores, parecia que caía neve, em flocos grossos, sobre os
casais. Yvonne me levava e tínhamos dificuldade de abrir caminho.
Antes de descer a escada, quis dar uma última olhada na direção da mesa que deixamos.
Toda minha raiva tinha se dissipado e eu lamentava ter perdido o controle.
- Você vem? - disse Yvonne. - Você vem? - Em que está pensando, Victor? - perguntou Meinthe, e me batia no ombro.
Eu permanecia ali, no início da escada, hipnotizado outra vez pela cabeleira de Fossorié. Ela brilhava. Ele devia untá-la com uma espécie de Bakerfix fosforescente.
Quantos esforços e paciência para construir, toda manhã, aquela montagem cinza-azul.
No Dodge, Meinthe disse que tínhamos perdido burramente nossa noite. A culpa caía sobre Daniel Hendrickx que tinha recomendado a Yvonne que viesse com o pretexto
de que todos os membros do júri estariam lá, assim como diversos jornalistas. Nunca se devia acreditar naquele "porcalhão".
- Mas sim, minha querida, você sabe muito bem - acrescentava Meinthe, num tom exasperado. - Pelo menos ele lhe deu o cheque?
- É claro. E eles me revelaram os bastidores dessa noitada tão triunfal: Hendrickx tinha criado a Taça Houligant cinco anos antes.
76
Uma vez sim, outra não, ela era entregue no inverno, em L'Alpe d'Huez ou em Megève. Ele tinha tomado essa iniciativa por esnobismo (escolhia algumas personalidades
da vida social para compor o júri), para cuidar da publicidade (os jornais que falavam da taça citavam Hendrickx, relembrando suas proezas esportivas) e também
por gostar das moças bonitas. Com a promessa de obter a taça, qualquer idiota sucumbia. O cheque era de 800 mil francos. No meio de júri, Hendrickx fazia a lei.
Fossorié bem que gostaria que aquela "taça da elegância" que a cada ano obtinha um vivo sucesso dependesse um pouco mais do departamento de turismo. Daí aquela
rivalidade surda entre os dois homens.
- Pois bem, meu caro Victor - concluiu Meinthe -, o senhor vê como a província é mesquinha.
Ele se virou para mim e me gratificou com um sorriso triste. Nós tínhamos chegado à frente do Casino. Yvonne tinha pedido a Meinthe que nos deixasse lá. Voltaríamos
para o hotel a pé.
- Telefonem para mim amanhã, vocês dois. - Parecia desolado por ficar só. Pendurou-se por cima da porta: - E esqueçam essa noite ignóbil.
Depois deu a partida bruscamente, como se quisesse arrancar-se de nós. Pegou a rua Royale e me perguntei onde passaria a noite.
Durante alguns instantes, admiramos o jato d'água que mudava de cor. Aproximamo-nos o máximo possível e recebemos gotículas sobre o rosto. Empurrei Yvonne. Ela
se debatia gritando. Ela também quis me empurrar de surpresa. Nossas risadas ecoavam pela esplanada deserta.
Lá embaixo, os garçons da Taverne acabavam de arrumar as mesas. Em torno de uma hora da manhã. A noite estava quente e senti uma espécie de embriaguez pensando
que o verão mal começava e que ainda tínhamos à nossa
frente dias e dias para passarmos juntos, para passearmos à noite ou ficarmos no quarto ouvindo o bater felpudo e idiota das bolas de tênis.
77
No primeiro andar do Casino, as janelas envidraçadas estavam iluminadas: a sala de bacará. Percebiam-se vultos. Demos a volta nesse prédio sobre cuja fachada estava
escrito CASINO com letras redondas e passamos da entrada do Brummel, de onde saía música. Sim, naquele verão estavam no ar músicas e canções, sempre as mesmas.
Seguimos a avenida de Albigny pela calçada esquerda, a que ladeia os jardins da prefeitura. Alguns raros automóveis passavam nos dois sentidos. Perguntei a Yvonne
por que ela deixava Hendrickx lhe passar a mão nas nádegas. Ela respondeu que aquilo não tinha a menor importância. Era necessário que fosse gentil com Hendrickx,
pois a tinha feito ganhar a taça e lhe tinha dado um cheque de oitocentos mil francos. Eu disse que em minha opinião devia-se exigir bem mais do que oitocentos
mil francos para se deixar "meter a mão nas nádegas" e que, de todo modo, a Taça Houligant da elegância não tinha interesse algum. Nenhum. Ninguém sabia da existência
dessa taça, com exceção de alguns provincianos desvairados à beira de um lago perdido. Era grotesca, aquela taça. E lastimável. Hein? Em primeiro lugar, o que
se sabia de elegância naquele "buraco saboiano"? Hein? Ela respondeu, numa vozinha afetada, que achava Hendrickx "muito sedutor" e que estava contente de ter dançado
com ele. Eu disse - tentando pronunciar todas as sílabas, sem sucesso, eu comia a metade - que Hendrickx era teimoso e "subserviente" como todos os franceses.
- Mas você também é francês - me disse ela. - Não. Não. Não tenho nada á ver com os franceses. Vocês, os franceses, são incapazes de compreender a verdadeira nobreza,
a verdadeira...
Ela caiu na gargalhada. Eu não a intimidava. Então, declarei - e simulava uma frieza extrema - que no futuro seria de interesse dela não se vangloriar muito da
Taça Houligant de elegância, se não quisesse que rissem dela. Montes de meninas tinham ganho tacinhas ridículas como aquela antes de entrar
78
para a sombra do completo esquecimento. E quantas outras tinham rodado por acaso um filme sem valor, do gênero de Liebesbriefe auf dem Berg... A carreira cinematográfica
delas tinha parado aí. Muitas as chamadas. Poucas as eleitas.
- Você acha que esse filme não tem valor algum? - perguntou ela.
- Acho. Dessa vez, acho que ela sentiu. Andava sem dizer nada. Sentamo-nos no banco do chalé, esperando o funicular. Ela rasgava minuciosamente um velho papel
de cigarro. À medida que ia cortando, punha no chão os pedacinhos de papel, que tinham o tamanho de confetes. Fiquei tão enternecido com a aplicação dela que
lhe beijei as mãos.
O funicular parou antes de Saint-Charles Carabacel. Uma pane, aparentemente, mas àquela hora, ninguém mais iria consertar. Ela estava ainda mais apaixonada do que
de hábito. Pensei que devia me amar pelo menos um pouco. Algumas vezes olhávamos pelo vidro e nos víamos entre céu e terra, com o lago lá embaixo, e os telhados.
O dia vinha chegando.
Saiu, no dia seguinte, um grande artigo na terceira página do Eco da Liberdade.
O título anunciava: "TAÇA HOULIGANT DA ELEGÂNCIA CONCEDIDA PELA QUINTA VEZ".
"Ontem, no final da manhã, no Sporting, uma numerosa platéia acompanhou com curiosidade o desenrolar da quinta Taça Houligant de elegância. Os organizadores, tendo
entregue essa taça no ano passado em Megéve, durante a estação de inverno, preferiram que este ano ela fosse um acontecimento de verão. O sol não faltou ao encontro.
Nunca esteve tão radiante. A maior parte dos espectadores estava em trajes de banho. Notava-se entre eles o Sr. Jean Marchat da Comédie-Française que veio fazer
no teatro do Casino algumas apresentações de Escutem bem, senhores.
"O júri, como de costume, reunia personalidades as mais
79
diversas. Era presidido pelo Sr. André de Fouquières, que de bom grado pôs a serviço da Taça sua longa experiência: pode-se dizer, com efeito, que o Sr. de Fouquières,
tanto em Paris quanto em Deauville, Cannes ou Touquet, participou de e julgou a vida elegante desses últimos cinqüenta anos.
" À sua volta estavam sentados: Daniel Hendrickx, o célebre campeão e promotor da taça; Fossorié, do departamento de turismo; Gamange, cineasta; Sr. e Sra. Tessier,
do clube de golfe; Sr. e Sra. Sandoz, do Windsor; o senhor subprefeito R. A. Roquevillard. Lamentava-se a ausência do dançarino José Torres, que na última hora não
pôde vir.
" A maior parte dos concorrentes honrou a taça; o Sr. e a Sra. Jacques Roland-Michel, de Lyon, de férias, como todos os verões, em sua vila de Chavoires, foram
particularmente notados e vivamente aplaudidos.
" Mas a láurea foi entregue, após diversas rodadas de escrutínio, à senhorita Yvonne Jacquet, de 22 anos, radiante jovem de cabelos ruivos, vestida de branco e seguida
por um impressionante dogue. A senhorita Jacquet, por sua graça e irreverência, deixou no júri uma forte impressão.
" A senhorita Yvonne Jacquet nasceu em nossa cidade e aqui foi educada. Sua família é originária da região. Ela acaba de debutar no cinema, num filme rodado a
alguns quilômetros daqui por um diretor alemão. Desejamos à senhorita Jacquet, nossa compatriota, boa sorte e sucesso.
" Ela estava acompanhada pelo Sr. René Meinthe, filho do doutor Henri Meinthe. Esse nome despertará em algumas pessoas muitas lembranças. O doutor Henri Meinthe,
de antiga cepa saboiana, foi, com efeito, um dos heróis e mártires da Resistência. Uma rua da nossa cidade leva seu nome."
Uma grande fotografia ilustrava o artigo. Tinha sido tirada na Sainte-Rose, justamente no momento em que ali entrávamos. Estávamos de pé, os três, Yvonne e eu um
ao lado do outro, Meinthe, ligeiramente atrás. Embaixo, a legenda indicava: "Senhorita Yvonne Jacquet, Sr. René Meinthe e um de seus
80
amigos, o conde Victor Chmara." O clichê estava muito nítido, apesar do papel jornal. Yvonne e eu tínhamos um ar sério. Meinthe sorria. Nós fixávamos um ponto
no horizonte. Guardei comigo aquela fotografia durante vários anos antes de incluí-la entre outras recordações e, uma noite em que a olhava com melancolia, não
pude me impedir de escrever através dela, com lápis vermelho: "Reis por um dia".
VIII
- Um porto, o mais claro possível, minha pequena - repete Meinthe.
A garçonete não entende. - Claro? - Muito, muito claro. Mas disse isso sem convicção. Passa a mão sobre as bochechas mal barbeadas. Há 12 anos, barbeava-se
duas ou três vezes por dia. No fundo do porta-luvas do Dodge ficava um barbeador elétrico mas, dizia, esse aparelho de nada lhe servia, de tão dura que era sua
barba. Chegava a quebrar com ela as lâminas extra-azuis.
A garçonete retorna, com uma garrafa de Sandeman, e lhe serve um copo:
- Não tenho porto... claro. Cochichou "claro", como se tratasse de uma palavra vergonhosa.
- Não tem problema, minha pequena - responde Meinthe.
E ele sorri. Rejuvenesceu de repente. Sopra no copo e observa as listras na superfície do porto.
- Não teria um canudo, minha pequena?
82
Ela traz 'de má vontade, com o rosto emburrado. Não tem mais do que vinte anos. Deve dizer-se: "Até que horas esse bêbado vai ficar aqui? E o outro, lá no fundo,
com seu paletó xadrez?" Como todas as noites às 11 horas, ela acaba de substituir Geneviève, aquela que já encontrava lá no início dos anos sessenta e que, durante
o dia, tomava conta do bar do Sporting, perto das cabines. Uma loura graciosa. Tinha, ao que parece, um sopro no coração.
Meinthe voltou na direção do homem de casaco xadrez. Aquele paletó é o único elemento pelo qual pode atrair atenção sobre si. Fora isso, tudo é medíocre em seu
rosto: bigodinho preto, nariz bastante grande, cabelos castanhos puxados para trás. Ele que, um instante antes, tinha aparência de bêbado, mantém-se muito ereto,
com uma expressão de suficiência no canto dos lábios:
- Pode me pedir... a voz está pastosa e hesitante - o 233 em Chambéry...
A garçonete disca o número. Alguém responde do outro lado da linha. Mas o homem de casaco xadrez permanece, todo ereto, à mesa.
- Senhor, estou com a pessoa ao telefone - inquieta-se a garçonete.
Ele não se move um milímetro. Tem os olhos grandes abertos e o queixo ligeiramente para a frente.
- Senhor... Ele parece de mármore. Ela desliga. Deve estar começando a ficar inquieta. Esses dois clientes são mesmo estranhos... Meinthe acompanhou a cena de
sobrancelhas franzidas. Ao final de alguns minutos, o outro recomeça, numa voz ainda mais surda:
- Por favor, quer pedir... Ela dá de ombros. Então Meinthe se debruça sobre o telefone e disca ele mesmo o número. Quando escuta a voz, empurra o aparelho na direção
do homem de paletó xadrez, mas este não faz um movimento. Fixa Meinthe com os olhos grandes abertos.
83
- Vamos, senhor... - murmura Meinthe. - Vamos... Ele acaba pondo o aparelho no bar e sacode os ombros. - A senhora talvez esteja com vontade de ir dormir, minha
pequena - diz ele à garçonete. - Não quero lhe prender.
- Não. De todo modo, aqui fecha às duas da manhã... vai vir gente.
- Gente? - Está havendo um congresso. Eles vêm para cá. Ela se serve um Copo Coca-Cola. - Não é muito alegre aqui no inverno, hein? - constata Meinthe.
- Eu vou-me embora para Paris - ela diz, num tom agressivo.
- A senhora tem razão. O outro, atrás, estalou os dedos. - Eu queria outro dry, por favor - e depois acrescenta -, e o número 233 em Chambéry...
Meinthe disca outra vez o número e, sem se virar, põe o aparelho de telefone ao lado dele, num tamborete. A menina solta uma risada doida. Ele ergue a cabeça e
seus olhos pousam nas velhas fotografias de Émile Allais e de James Couttet, em cima das garrafas de aperitivos. Juntaram a elas uma fotografia de Daniel Hendrickx,
que morreu, há alguns anos, num acidente de automóvel. Com certeza uma iniciativa de Geneviève, a outra garçonete. Ela era apaixonada por Hendrickx no tempo em
que trabalhava no Sporting. No tempo da Taça Houligant.
84
IX
Essa taça, onde se encontra agora? No fundo de que estante? De que quarto de despejo? Nos últimos tempos, servia de cinzeiro. A base que sustentava a bailarina
tinha uma borda circular. Ali apagávamos nossos cigarros. Devemos tê-la esquecido no quarto do hotel e me surpreendo, eu, que sou ligado aos objetos, de não tê-la
trazido.
No início, no entanto, Yvonne parecia apreciá-la. Pôs bem em evidência na escrivaninha do salão. Era o princípio de uma carreira. Em seguida viriam as Victoires
e os Oscars. Mais tarde, viria a falar dela com carinho diante dos jornalistas - pois para mim não havia a menor dúvida de que Yvonne ia se tornar estrela de cinema.
Enquanto esperávamos, tínhamos pregado no banheiro o grande artigo do Eco da Liberdade.
Passávamos os dias no ócio. Levantávamo-nos bastante cedo. De manhã, freqüentemente havia bruma - ou melhor, um vapor azul que nos libertava das leis da gravidade.
Éramos tão leves, tão leves... Quando descíamos o bulevar Carabacel, mal tocávamos a calçada. Nove horas. O sol logo iria dissipar aquela bruma sutil. Nenhum
cliente, ainda, na praia do Sporting. Éramos os únicos seres vivos com um dos meninos do banho, vestido de branco, que cuidava das espreguiçadeiras e dos
85
guarda-sóis. Yvonne usava um maiô duas peças cor de opala e eu tinha tomado emprestada sua saída. Ela se banhava. Eu a olhava nadar. O cachorro também a seguia
com
os olhos. Ela me acenava e gritava, rindo, para que eu fosse ter com ela. Eu me dizia que aquilo tudo era muito bonito e que amanhã uma catástrofe ia acontecer.
No dia 12 de julho de 39, eu pensava, um sujeito do meu tipo, vestido de saída de banho com listras vermelhas e verdes, olhava sua noiva nadar na piscina do EdenRoc.
Ele tinha medo, como eu, de escutar rádio. Mesmo aqui, no cabo de Antibes, não escaparia da guerra... Em sua cabeça acotovelavam-se nomes de refúgios, mas não
teria tempo para desertar. Durante alguns segundos um terror inexplicável me invadia e depois ela saía da água e vinha deitar-se a meu lado para tomar um banho
de sol.
Por volta das 11 horas, quando as pessoas começavam a invadir o Sporting, refugiávamo-nos numa espécie de pequeno ancoradouro. Chegava-se ali da varanda do restaurante
por uma escada desmoronada que datava do tempo do senhor GordonGramme. Em baixo, uma praia de seixos e pedras; um chalé minúsculo, de uma só peça, com janelas,
postigos. Na porta tremulante, duas iniciais gravadas na madeira, em letras góticas: G-G - Gordon-Gramme - e a data: 1903. Com certeza, ele mesmo tinha construído
aquela casa de boneca e vindo recolher-se ali. Delicado e previdente Gordon-Gramme. Quando o sol batia muito forte, ficávamos uns instantes lá dentro. Penumbra.
Uma réstia de luz no umbral. Um ligeiro odor de mofo pairava, a que acabamos nos acostumando. Ruído- de ressaca, tão monótono e tranqüilizante como o das bolas
de tênis. Fechávamos a porta.
Ela se banhava e se esticava ao sol. Eu preferia a sombra, como meus ancestrais orientais. No início da tarde, voltávamos a subir ao Hermitage, e não deixávamos
o quarto, até as sete ou oito horas da noite. Havia uma sacada muito grande, no meio da qual Yvonne se deitava. Eu me instalava ao lado dela, com
86
um chapéu de feltro "colonial" branco - uma das raras lembranças que eu guardava de meu pai e de que eu gostava ainda mais porque estávamos juntos quando o comprou.
Foi na Sport e Climat, na esquina do bulevar Saint-Germain e da rua SaintDominique. Eu tinha oito anos e meu pai se preparava para viajar para Brazzaville. O que
ia fazer lá? Nunca me disse.
Eu descia ao saguão para buscar revistas. Por causa da clientela estrangeira, encontrava-se a maioria das publicações da Europa. Eu comprava todas: Oggi, Life,
Cinéronde, Der Stern, Confidential... Lançava um olhar oblíquo às manchetes dos diários. Coisas graves aconteciam na Argélia e também na metrópole e no mundo.
Eu preferia não saber. Dava nó na garganta. Desejava que não se falasse demais dessas coisas nas revistas ilustradas. Não. Não. Evitar os assuntos importantes.
De novo, o pânico me tomava. Para me acalmar, virava um Alexandra no bar e tornava a subir com minha pilha de revistas. Nós as líamos, espojando-nos na cama ou
no chão, diante da porta da sacada aberta, entre as manchas douradas que faziam os últimos raios de sol. A filha de Lana Turner tinha matado com uma facada o
amante da mãe. Errol Flynn morreu de ataque cardíaco e à jovem amiga que lhe perguntava onde podia jogar a cinza do cigarro, teve tempo de apontar a bocarra aberta
de um leopardo empalhado. Henri Garat tinha morrido, como um mendigo. E o príncipe Ali Khan também, num acidente de automóvel para os lados de Suresnes. Não me
lembro mais dos acontecimentos felizes. Recortávamos algumas fotografias e as pregávamos nas paredes do quarto. A direção do hotel não parecia se importar.
Tardes vazias. Horas lentas. Yvonne usava freqüentemente um robe de seda preto com bolas vermelhas, furado em alguns pontos. Eu esquecia de tirar meu velho chapéu
de feltro "colonial".
As revistas, meio rasgadas, cobriam o chão. Flocos de âmbar solar caíam por toda parte. O cachorro deitava atravessado numa poltrona. E nós púnhamos discos para
tocar no velho Teppaz. Esquecíamos de acender as lâmpadas.
87
Embaixo, a orquestra começava a tocar e chegavam os que iam jantar. Entre duas músicas, ouvíamos os murmúrios das conversas. Uma voz se destacava daquele zumbido
- voz de mulher - ou gargalhada. E a orquestra recomeçava. Eu deixava aberta a porta da sacada para que aquele zunzunzum e aquela música subissem até nós. Eles
nos protegiam. E além disso, tinham início todo dia à mesma hora e isso queria dizer que o mundo continuava a girar. Até quando?
A porta do banheiro recortava um retângulo de luz. Yvonne se maquiava. Eu, apoiado no balcão, observava aquela gente toda (a maioria em traje de noite), o vaivém
dos garçons, os músicos, de quem acabei conhecendo cada careta. Assim, o maestro se inclinava, com o queixo quase colado no peito. E quando a música acabava,
levantava bruscamente a cabeça, boca aberta, como um homem que estivesse se sufocando. O violinista tinha um rosto amável, um tanto porcino; fechava os olhos e
balançava a cabeça sorvendo o ar.
Yvonne estava pronta. Eu acendia uma lâmpada. Ela sorria para mim e fazia um olhar misterioso. Por divertimento, tinha vestido luvas negras que subiam até a metade
do braço. Estava de pé em meio à desordem do quarto, a cama desfeita, os robes e vestidos espalhados. Saíamos na ponta dos pés evitando o cão, os cinzeiros, o
toca-discos e os copos vazios.
Tarde da noite, quando Meinthe nos tinha levado ao hotel, escutávamos música. Nossos vizinhos mais próximos diversas vezes reclamaram do barulho que fazíamos.
Tratava-se de um industrial lionês - soube disso pelo porteiro - e sua mulher, que vi apertando a mão de Fossorié depois da Taça Houligant. Mandei entregarem
lá um buquê de peônias com este bilhete: "O conde Chmara, desolado, envia-lhes flores."
Quando voltávamos, o cão soltava gemidos queixosos e regulares e aquilo durava em torno de uma hora. Impossível
acalmá-lo. Então preferíamos pôr música para cobrir a voz dele. Enquanto Yvonne se despia e tomava um banho, eu lia para ela algumas páginas do livro de Maurois.
Não desligávamos o tocadiscos, que difundia uma canção frenética. Eu escutava vagamente os socos do industrial lionês na porta de comunicação e a campainha do
telefone. Ele deve ter avisado ao porteiro noturno. Talvez acabassem nos expulsando do hotel. Melhor. Yvonne tinha vestido sua saída de praia e preparávamos uma
refeição para o cachorro (para isso tínhamos uma pilha inteira de latas de conserva e até um escalfador). Esperávamos que depois de ter comido, se calasse. Conseguindo
vencer a voz estridente do cantor, a mulher do industrial lionês berrava: "Mas faça alguma coisa, Henri, faça alguma coisa. TELEFONE PARA A POLÍCIA..."A varanda
deles justapunha-se à nossa. Tínhamos deixado a porta da sacada aberta e o industrial, cansado de bater na parede, insultava-nos de fora. Yvonne então tirava o
roupão e saía na varanda, completamente nua, depois de ter posto as longas luvas negras. O outro a fixava, afogueado. A mulher o puxava pelo braço. Ela gritava:
"Ah, nojentos... puta..." Nós éramos jovens.
E ricos. A gaveta da mesa-de-cabeceira dela transbordava de cédulas. De onde vinha aquele dinheiro? Eu não ousava perguntar. Um dia, como estava arrumando os maços
um ao lado do outro, para poder fechar a gaveta, ela me explicou que era o cachê do filme. Tinha exigido que lhe pagassem em espécie e em notas de cinco mil francos.
Acrescentou que tinha recebido o cheque da Taça Houligant. Mostrava um pacote, embrulhado em papel jornal: oitocentas notas de mil francos. Preferia as notas
pequenas.
Ela gentilmente se propôs a me emprestar dinheiro, mas declinei da oferta. Estavam ainda no fundo das minhas malas oitocentos ou novecentos mil francos. Aquela
quantia eu tinha ganho vendendo a um livreiro de Genebra duas edições "raras" compradas em Paris por uma bagatela, numa loja de trocas.
89
Troquei, na recepção, as notas de cinqüenta mil francos por outras de quinhentos francos, que transportei numa bolsa de praia. Virei tudo em cima da cama. Ela
juntou as notas dela, formando uma pilha impressionante. Ficávamos maravilhados com aquele volume de notas que não tardaríamos a gastar. E eu reencontrava nela
meu gosto pelo dinheiro vivo, quero dizer, dinheiro ganho facilmente, maços que forram os bolsos, dinheiro louco que escorre pelos dedos.
Depois que o artigo saiu, eu fazia perguntas sobre a infância dela naquela cidade. Ela evitava responder, sem dúvida porque queria permanecer mais misteriosa e tinha
um pouco de vergonha de sua origem "modesta" nos braços do "conde Chmara". E, como minha verdade a tinha decepcionado, eu lhe contava as aventuras de meus parentes.
Meu pai tinha deixado a Rússia muito novo, com a mãe e as irmãs, por causa da Revolução. Passaram algum tempo em Constantinopla, Berlim e Bruxelas antes de se
instalar em Paris. Minhas tias foram modelos de Schiaparelli para ganhar a vida como muitas russas belas, nobres e brancas. Meu pai, aos 25 anos, partiu de veleiro
para a América onde se casou com a herdeira das lojas Woolworth. Depois divorciou-se, obtendo colossal pensão alimentar. De volta à França, conheceu mamãe, artista
irlandesa do music-hall. Eu nasci. Todos dois desapareceram a bordo de um avião de turismo, para os lados do Cap-Ferrat, em julho de 49. Eu tinha sido educado
por minha avó, em Paris, num apartamento térreo da rua Lord-Byron. Era isso.
Ela acreditava em mim? Pela metade. Ela tinha necessidade, antes de dormir, que eu lhe contasse histórias "maravilhosas" cheias de gente famosa e artistas de cinema.
Quantas vezes lhe descrevi os amores de meu pai e da atriz Lupe Velez na vila em estilo espanhol em Beverly Hills? Mas quando eu queria que ela, por sua vez,
me falasse de sua família, me dizia: " Oh... não é interessante..." E era, no entanto, a única coisa que faltava em minha felicidade: o relato de uma infância
e de uma adolescência passadas numa cidade de província. Como lhe
explicar que, a meus olhos de apátrida, Hollywood, os príncipes russos e o Egito de Faruk pareciam sem brilho, desbotados, diante daquele ser exótico e quase
inacessível: uma francesinha?
90
91
Aconteceu uma noite, simplesmente. Ela me disse: "Vamos jantar na casa de meu tio". Estávamos lendo revistas na varanda e a capa de uma delas - lembro-me - mostrava
a atriz de cinema inglesa, Belinda Lee, que tinha morrido num acidente de automóvel.
Vesti de novo meu terno de flanela e como o colarinho de minha única camisa branca estava completamente puído, enfiei uma pólo branca surrada que combinava com
minha gravata do International Bar Fly, azul e vermelha. Tive muito trabalho para dar nó nela porque a gola da pólo era mole demais, mas queria estar com a aparência
cuidada. Enfeitei meu casaco de flanela com um lenço de bolso azul-noite que tinha comprado por causa da cor profunda. Como calçado, hesitava entre os mocassins,
aos frangalhos, alpargatas ou uns Weston quase novos, mas com solas grossas de crepe. Optei por eles, julgando-os mais dignos. Yvonne me suplicou que eu pusesse
o monóculo: aquilo intrigaria o tio dela e ele me acharia "engraçado'. Mas eu justamente não queria isso de jeito nenhum. Desejava que aquele homem me visse como
eu era de verdade: um rapaz modesto e sereno.
Ela escolheu um vestido de seda branco e o turbante rosa fúcsia que tinha usado no dia da Taça Houligant. Maquiou-se
92
mais demoradamente do que de hábito. Seu batom era da mesma cor que o turbante. Enfiou as luvas, que subiam até a metade do braço, e eu achei aquilo curioso, para
ir jantar na casa do tio. Saímos, com o cachorro.
No saguão do hotel, algumas pessoas se espantaram com a nossa passagem. O cachorro ia à frente, desenhando seus movimentos de quadrilha. Aquilo acontecia quando
saíamos com ele em horas a que não estava habituado. Tomamos o funicular.
Seguimos a rua do Parmelan que prolonga a rua Royale. À medida que avançávamos, eu descobria uma outra cidade. Deixávamos para trás tudo aquilo que faz o encanto
artificial de uma estação termal, todo aquele pobre cenário de opereta onde um velhíssimo paxá egípcio no exílio acaba dormindo de tristeza. Lojas de alimentos
e de motocicletas substituíam as butiques de luxo. Sim, era curioso o número de lojas de motocicletas. Às vezes havia duas, uma ao lado da outra e, em exposição
na calçada, diversas Vespas de segunda mão. Passamos a estação da estrada. Um ônibus aguardava, com o motor ligado. No flanco, levava o nome da empresa e as etapas:
Sevrier-PringyAlbertville. Chegamos à esquina da rua do Parmelan e da avenida Maréchal-Leclerc. Essa avenida se chamava "MaréchalLeclerc" num pequeno trecho, pois
tratava-se da Nacional 201, que ia para Chambéry. Era ladeada de plátanos.
O cão tinha medo e andava o mais distante possível da estrada. O ambiente do Hermitage convinha melhor a sua silhueta lassa e sua presença na periferia despertava
curiosidade. Yvonne não dizia nada, mas o bairro lhe era familiar. Durante anos e anos fez com certeza o mesmo caminho, de volta da escola ou uma surprise party
na cidade (a expressão surpriseparty não convém. Ela ia ao "baile" ou ao "dancing"). E eu já tinha esquecido o saguão do Hermitage; ignorava aonde íamos, mas aceitava
antecipadamente viver com ela, na Nacional 201. Os vidros de nosso quarto tremiam à passagem dos caminhões
93
pesados, como aquele pequeno apartamento do bulevar Soult onde morei uns meses na companhia de meu pai. Eu me sentia leve. Só os sapatos novos me incomodavam um
pouco no calcanhar.
A noite tinha caído e, de cada lado, residências de dois ou três andares montavam guarda, pequenos prédios pintados de branco e com charme colonial. Prédios assim
existiam no bairro europeu em Túnis e até em Saigon. De espaço a espaço, uma casa em forma de castelo no meio de um jardim minúsculo me lembrava que nos encontrávamos
em Haute-Savoie.
Passamos na frente de uma igreja de tijolo e perguntei a Yvonne como se chamava: São Cristóvão. Gostaria que ela tivesse feito a primeira comunhão ali, mas não
fiz a pergunta, por temor de me decepcionar. Um pouco mais longe, o cinema se chamava Splendid. Com sua fachada bege sujo e portas vermelhas com vigias, parecia-se
com todos os cinemas que se encontra no subúrbio, quando se atravessa as avenidas Maréchalde-Lattre-de-Tassigny, Jean-Jaurès ou Maréchal-Leclerc, bem antes de
se entrar em Paris. Ali também, ela devia ir aos 16 anos. O Splendid mostrava naquela noite um filme da nossa infância: O prisioneiro de Zenda, e imaginei que
estávamos na bilheteria comprando dois ingressos para o balcão. Eu a conhecia por todo o sempre, aquela sala, via suas poltronas de espaldar de madeira e o painel
dos anúncios locais diante da tela: Jean Chermoz, florista, rua Sommeiller, 22. LAV NET, rua do Président-Favre, 17. Decouz, Rádios, TV, Hi-Fi, avenida de Allery,
23... Os cafés se sucediam. Por trás dos vidros do último, quatro rapazes com ondas nos cabelos jogavam totó. Mesas verdes estavam arrumadas ao ar livre. Os clientes
que ali se encontravam examinaram o cachorro com interesse. Yvonne tinha tirado as luvas compridas. Em suma, reencontrava seu ambiente natural e podia-se imaginar
que tinha posto o vestido de seda branco que usava para ir a uma festa nas vizinhanças ou a um baile de 14 de julho.
Ladeamos por quase cem metros uma cerca de madeira
94
escura. Cartazes de todo tipo estavam colados nela. Cartazes do cinema Splendid. Cartazes anunciando a festa da paróquia e a vinda do circo Pinder. Cabeça rasgada
pela metade de Luis Mariano. Antigas inscrições pouco legíveis: Libertem Henri Martin.. . Ridgway go honre... Argélia francesa... Corações partidos por uma flecha
com iniciais. Tinham instalado naquele local postes modernos de cimento, ligeiramente encurvados. Eles projetavam na cerca a sombra dos plátanos e suas folhagens
que sussurravam. Uma noite muito quente. Tirei o casaco. Estávamos diante da entrada de uma imponente garagem. À direita, numa pequena porta lateral, uma placa onde
estava gravado, em letras góticas: Jacquet. E um painel, onde li: "Peças avulsas para veículos americanos".
Ele nos esperava no cômodo do térreo que devia servir ao mesmo tempo de salão e sala de jantar. As duas janelas e a porta envidraçada davam para a garagem, um
imenso hangar.
Yvonne me apresentou indicando meu título nobre. Sentime incomodado, mas fiz parecer que achava aquilo perfeitamente natural. Ele virou-se para ela e perguntou,
num tom rabugento:
- Será que o conde gosta de escalope empanado? - Tinha um sotaque parisiense muito acentuado. - Porque fiz escalope para vocês.
Mantinha, ao falar, o cigarro, ou melhor, seu resto, no canto da boca e franzia os olhos. Sua voz era muito grave, enrouquecida, voz de alcoólatra ou de fumante
inveterado.
- Sentem-se... Ele nos apontou um sofá azulado junto à parede. Depois deu uns passinhos balanceados até à peça contígua: a cozinha. Ouviu-se o ruído de uma frigideira.
Retornou trazendo uma bandeja, que pôs sobre o braço do sofá. Três copos e um prato cheio daqueles biscoitos que chamam de línguas-de-gato. Estendeu os copos, a
Yvonne e a mim. Um líquido vagamente rosado. Sorriu para mim:
- Prove. Um coquetel do barril de Deus. Dinamite. Isso se chama... Dama Rosa... Prove...
95
Umedeci os lábios nele. Engoli uma gota. Logo tossi. Yvonne caiu na gargalhada.
- Você não devia dar isso a ele, titio Roland... Eu estava emocionado e surpreso de ouvi-la dizer titio Roland.
- Dinamite, hein? - disse ele, os olhos brilhando, quase arregalados.
- Tem que se acostumar. Ele se sentou na poltrona, estofada com o mesmo tecido azulado e gasto do sofá. Acariciava o cão, que dormitava a sua frente, e bebia
um gole de seu coquetel.
- Tudo bem? - perguntou ele a Yvonne. - Tudo. Ele balançou a cabeça. Não sabia mais o que dizer. Talvez não quisesse falar diante de alguém que acabava de conhecer.
Esperava que eu desse início à conversa, mas eu estava ainda mais intimidado do que ele e Yvonne nada fazia para desanuviar o mal-estar. Pelo contrário, tirou as
luvas da bolsa e as enfiava lentamente. Ele acompanhava com um olhar de viés aquela operação bizarra e interminável, com a boca um pouco amuada. Houve longos minutos
de silêncio.
Eu o observava às escondidas. O cabelo era castanho e espesso, a pele vermelha, mas grandes olhos negros e cílios muito longos davam àquele rosto pesado algo de
charmoso e lânguido. Devia ter sido bonito na juventude, de uma beleza um tanto rechonchuda. Os lábios, ao contrário, eram finos, espirituais, bem franceses.
Via-se que tinha cuidado da toalete para nos receber. Paletó de tweed cinza muito largo na altura dos ombros; camisa escura sem gravata. Perfume de lavanda. Eu
tentava encontrar nele algum traço de parentesco com Yvonne. Sem sucesso. Mas achava que conseguiria até o final da noite. Eu me poria à frente deles e os espiaria
simultaneamente. Acabaria percebendo algum gesto ou expressão que lhes fosse comum.
- E então, tio Roland, anda trabalhando muito? Ela fez essa pergunta num tom que me surpreendeu. Nele
96
se mesclavam uma ingenuidade infantil e a brusquidão que uma mulher pode ter para com o homem com quem ela vive.
- Oh, sim... essas porcarias de "americanos"... todos esses Studebaker de merda...
- Não têm graça, hein, titio Roland? Dessa vez, poder-se-ia dizer que falava com uma criança. -Não. Principalmente porque nos motores dessas porcarias de Studebaker...
Deixou a frase em suspenso, como se de repente se desse conta de que esses detalhes técnicos poderiam não nos interessar.
- Pois é... E você, tudo bem? - ele perguntou a Yvonne. - Tudo bem?
- Tudo, titio. Ela pensava em outra coisa. Em quê? - Perfeito. Se está, está... E se passássemos para a mesa? Ele tinha se levantado e pousava a mão em meu ombro.
- Ei, Yvonne, está me ouvindo? A mesa estava posta de encontro à porta envidraçada e às janelas que davam para a garagem. Uma toalha de quadrados azul-marinho
e brancos. Copos Duralex. Ele me apontou um lugar: o que eu tinha previsto. Eu estava de frente para eles. No prato de Yvonne e no dele, prendedores de guardanapo
de madeira, com seus nomes, "Roland" e "Yvonne", gravados em letras redondas.
Ele se dirigiu, em seu passo ligeiramente balanceado, para a cozinha e Yvonne aproveitou para me arranhar a palma da mão com a unha. Ele nos trouxe um prato de
salada "niçoise". Yvonne nos serviu.
- O senhor gosta, espero? E depois, dirigindo-se a Yvonne e separando as sílabas: - O con-de gos-ta mes-mo? Não discerni naquilo maldade alguma, mas uma ironia
e uma gentileza bem parisienses. Aliás, eu não entendia por que aquele "saboiano" (eu recordava a frase do artigo que dizia respeito a Yvonne: "Sua família é originária
da região") tinha o sotaque arrastado de Belleville.
97
Não, decididamente, não se pareciam. O tio não tinha a fineza dos traços, as mãos longas e o pescoço delicado de Yvonne. Ao lado dela, parecia mais massudo e taurino
do que quando estava sentado na poltrona. Eu bem que gostaria de saber de onde ela tinha tirado seus olhos verdes e seus cabelos ruivos, mas o infinito respeito
que tenho pelas famílias francesas e seus segredos me impedia de fazer perguntas. Onde estavam o pai e a mãe de Yvonne? Ainda viviam? O que faziam? Continuando
a observá-los com discrição encontrei, no entanto, em Yvonne e em seu tio os mesmos gestos. Por exemplo, o mesmo modo de segurar o garfo e a faca, o indicador um
tanto para a frente, a mesma lentidão para levar o garfo à boca e, por instantes, os mesmos olhos franzidos que lhes dava, a um e outro, pequenas rugas.
- E o senhor, o que faz na vida? - Ele não faz nada, titio. Ela não me deixou tempo para responder. - Não é verdade, senhor balbuciei. Não. Trabalho com... livros.
- ... Livros? Livros? Ele me olhava. O olho incrivelmente vazio. - Eu... Eu... Yvonne me encarava com um sorrisinho insolente. - Eu... eu estou escrevendo um
livro. É isso. Eu estava impressionado com o tom peremptório com que proferi essa mentira.
- O senhor está escrevendo um livro?... Um livro?... - Ele franzia as sobrancelhas e se inclinava um pouco mais em minha direção. - Um livro... policial?
Tinha uma aparência de alívio. Sorria. - Sim, um livro policial - murmurei -, um policial.
Um pêndulo soou na peça vizinha. Carrilhão rasgado, interminável. Yvonne escutava, com a boca entreaberta. O tio me
98
espiava, ele tinha vergonha daquela música intempestiva e degringolada que eu não conseguia identificar. E depois, bastou ele dizer: " O puto do Westminster ainda",
para que eu reconhecesse naquela cacofonia o carrilhão londrino, porém mais melancólico e mais inquietante do que o verdadeiro.
- Esse puto do Westminster ficou completamente louco. Soam as 12 badaladas a toda hora... Vou ficar doente com esse Westminster nojento... Se eu tivesse...
Falava dele como se fosse um inimigo pessoal e invisível.
- Está me escutando, Yvonne? - Mas eu lhe disse que pertencia à mamãe... Basta você me dar ele e não se fala mais disso...
Ele estava muito vermelho, de repente, e temi um acesso de cólera.
- Ele vai ficar aqui, está escutando... Aqui... - Está bem, titio, está bem... - Ela sacudiu os ombros. - Fique com ele, com seu pêndulo... o seu Westminster miniatura...
Virou-se para mim e piscou o olho. Ele, por sua vez, quis me fazer de testemunha.
- O senhor entende. Vai me ficar um vazio se eu não escutar mais essa porcaria de Westminster...
- Ele me lembra a infância - disse Yvonne -, não me deixava dormir...
E a visualizei na cama dela, apertando um urso de pelúcia com os olhos grandes abertos.
Ainda escutamos cinco notas em intervalos irregulares, com os soluços de um bêbado. Depois o Westminster calou-se, dir-se-ia que para sempre.
Respirei profundamente e me virei para o tio: - Ela morava aqui quando era pequena? Pronunciei a frase de uma maneira tão precipitada que ele não entendeu.
- Ele está perguntando se eu morava aqui quando era pequena. Está surdo, titio?
99
- Morava, claro. Lá em cima.
Mostrava o teto com o indicador.
- Vou lhe mostrar meu quarto daqui a pouco. Se ainda existir, hein titio?
- Mas é claro. Não mudei nada. Ele se levantou, pegou nossos pratos e talheres e foi para a cozinha. Voltou com pratos limpos e outros talheres.
- O senhor prefere bem passado? - perguntou.
- Como quiser. - Não. Como o senhor quiser, O SENHOR, conde. Enrubesci.
- Então, decida-se, bem passado ou malpassado? Eu já não conseguia pronunciar a mínima sílaba. Fiz um gesto vago com a mão, para ganhar tempo. Ele estava plantado
a minha frente, de braços cruzados. Examinava-me com uma espécie de estupefação.
- Diga aí, ele é sempre assim? - Sim, titio, sempre. Ele é sempre assim. Ele mesmo nos serviu escalopes e ervilha, especificando que se tratava de "ervilha fresca,
e não conserva". Serviu de beber também, mercurey, um vinho que ele só comprava para convidados "de classe".
- Então acha que é um convidado "de classe"? - perguntou-lhe Yvonne me designando.
- Mas é claro. É a primeira vez na minha vida que janto com um conde. O senhor é conde quem mesmo?
- Chmara - respondeu secamente Yvonne, como se estivesse aborrecida com ele por ter esquecido.
- É o quê esse Chmara? Português?
- Russo - gaguejei. Ele queria saber mais. - Por quê? O senhor é russo? Um cansaço infinito me tomou. Seria preciso de novo contar a Revolução, Berlim, Paris,
Schiaparelli, a América, a herdeira das lojas Woolworth, a avó da rua Lord-Byron... Não. Tive um enjôo.
100
- Está se sentindo mal? Ele pousou a mão em meu braço; era paternal. - Oh, não... Há muito tempo não me sinto tão bem... Pareceu espantado com essa declaração,
ainda por cima pelo fato de que pela primeira vez na noite eu tinha falado claramente.
- Vamos, tome um gole de mercurey...
- Você sabe, titio, você sabe... (ela fazia uma pausa e eu me aprumava, sabendo que o raio ia cair sobre mim) você sabe que ele usa monóculo?
- Ah, é? Não. - Põe o monóculo para mostrar a ele. Ela fez uma voz travessa. Repetiu com uma cantilena: "Põe o monóculo... põe o monóculo..."
Apalpei com a mão trêmula o bolso do paletó e, com lentidão de sonâmbulo, ergui o monóculo até o olho esquerdo. E tentei colocá-lo, mas os músculos não obedeciam
mais. Na terceira tentativa, o monóculo caiu. Eu sentia uma anquilose na altura da bochecha. Da última vez, ele caiu sobre a ervilha.
- Mas que merda - resmunguei. Eu começava a perder meu sangue frio e tinha medo de proferir uma dessas coisas terríveis que ninguém espera de um rapaz como eu.
Mas nada posso fazer, é um acesso que me dá.
- Quer experimentar? - perguntei ao tio, estendendolhe o monóculo.
Ele conseguiu na primeira tentativa, felicitei-o calorosamente. Ficava bem nele. Ele lembrava Conrad Veidt em Nocturno der Liebe. Yvonne morreu de rir. E eu também.
E o tio. Não conseguíamos mais parar.
- Tem de voltar - ele declarou. - Divertimo-nos muito os três. O senhor é muito engraçado.
- Isso é verdade - aprovou Yvonne. - O senhor também, o senhor é "engraçado" - disse eu. Eu quis acrescentar: reconfortante, porque sua presença, sua maneira
de falar, seus gestos me protegiam. Naquela sala
101
de jantar, entre Yvonne e ele, eu não tinha nada a temer. Nada. Eu era invulnerável.
- O senhor trabalha muito? - arrisquei. Ele acendeu um cigarro. - Oh, sim. Tenho que manter tudo isso sozinho... Fez um gesto na direção do hangar, por trás das
janelas. - Há muito tempo? Ele me estendia seu maço de Royales. - Começamos com o pai da Yvonne... Estava aparentemente espantado e tocado por minha atenção
e curiosidade. Não deviam lhe fazer freqüentemente perguntas sobre ele e seu trabalho. Yvonne tinha virado a cabeça e estendia um pedaço de carne ao cachorro.
- Compramos isso da empresa de aviação Farman... Tornamo-nos concessionários da Hotchkiss para toda a região... Trabalhávamos com a Suíça no caso dos carros de
luxo...
Emitia as frases muito depressa e quase à meia-voz, como se temesse que alguém o fosse interromper, mas Yvonne não prestava a menor atenção nele. Falava com o
cachorro e o acariciava.
- Ia bem, com o pai dela... Ele tragava o cigarro, que segurava entre o polegar e o indicador.
- Isso lhe interessa? É tudo passado, tudo... - O que está contando a ele, titio? - Do início da garagem com seu pai... - Mas o está aborrecendo... Havia uma
ponta de maldade na voz dela. - De modo algum - disse eu. - De modo algum. O que aconteceu com seu pai?
Essa pergunta me tinha escapado e eu não podia mais voltar a máquina atrás. Um aborrecimento. Notei que Yvonne franziu as sobrancelhas.
- Albert... Ao pronunciar esse nome, o tio fez um olhar ausente. Depois bufou.
102
- Albert teve uns problemas... Compreendi que não ficaria sabendo de mais nada por ele e me surpreendi por ele já me ter confiado tantas coisas.
- E você? - Ele apoiava a mão contra o ombro de Yvonne. - As coisas estão indo como você quer?
- Estão. A conversa ia atolar. Então, decidi partir para o ataque. - O senhor sabe que ela vai se tornar uma atriz de cinema?
- O senhor acredita mesmo? - Tenho certeza. Ela me soprava com gentileza a fumaça do cigarro no rosto.
- Quando ela me disse que ia fazer um filme, não acreditei. Então é verdade... Você terminou seu filme?
- Terminei, titio. - Quando poderemos vê-lo? - Vai sair dentro de três ou quatro meses - declarei.
- Vai passar aqui? Ele estava cético. - Com certeza. No cinema do Casino - eu falava num tom cada vez mais firme. - O senhor vai ver.
- Então, teremos que comemorar... Diga-me... Acha que é de fato uma profissão?
- Mas é claro. Além disso, ela vai continuar. Vai fazer outro filme.
Eu mesmo estava espantado com a veemência de minha afirmação.
- E vai tornar-se uma estrela de cinema, senhor. - Verdade? - Mas é claro, senhor. Pergunte a ela. - É verdade, Yvonne? Sua voz estava um tanto zombeteira.
- Sim, tudo o que Victor diz é verdade, titio. - O senhor vai ver que tenho razão.
103
Dessa vez, eu usava um tom adocicado, parlamentar, e tinha vergonha disso, mas aquele assunto me era muito caro e para falar dele eu buscava, por todos os meios,
vencer minhas dificuldades de elocução.
- Yvonne tem um enorme talento, acredite. Ela acariciava o cão. Ele me observava, seu resto de Royale no canto dos lábios. De novo, aquela sombra de inquietude,
aquele olhar absorto.
- O senhor acha mesmo que é uma profissão? - A mais bela profissão do mundo, senhor. - Muito bem, espero que você chegue lá - disse ele gravemente a Yvonne. -
Afinal de contas, você não é mais burra do que outra...
- Victor me dará bons conselhos, hein, Victor? Ela me dirigia um olhar terno e irônico. - O senhor soube que ela ganhou a Taça Houligant? - perguntei ao tio.
- Hein?
- Para mim foi uma surpresa, quando li no jornal. - Ele hesitou um instante. - Diga-me, é importante essa Taça Houligant?
Yvonne escarneceu. - Pode servir de trampolim - declarei, limpando meu monóculo.
Ele nos propôs bebermos o café. Sentei-me no velho sofá azulado enquanto Yvonne e ele tiravam a mesa. Yvonne cantarolava transportando os pratos e talheres para
a cozinha. Ele fazia correr a água. O cachorro tinha adormecido a meus pés. Revejo essa sala de jantar com precisão. O papel da parede tinha três motivos: rosas
vermelhas, hera e passarinhos (não sei dizer se eram melros ou pardais). Papel de parede um tanto desbotado, bege ou branco. O lustre circular era de madeira e
munido de uma dezena de lâmpadas com abajur em pergaminho. Luz de âmbar, quente. Na parede um quadrinho sem moldura representava um bosque e admirei a maneira como
o pintor tinha recortado as árvores sobre um céu claro de crepúsculo
104
e a mancha de sol que se demorava ao pé de uma árvore. Esse quadro contribuía para tornar a atmosfera do cômodo mais pacífica. O tio, por um fenômeno de contágio,
que nos faz, quando se escuta uma melodia conhecida, cantá-la também, cantarolava junto com Yvonne. Eu me sentia bem. Gostaria que a noite se prolongasse indefinidamente
para que eu pudesse observar durante horas as idas e vindas deles, os gestos graciosos de Yvonne e seu andar indolente, e o do tio, balanceado. E ouvilos murmurar
o refrão da canção, que eu mesmo não ouso repetir, porque me lembraria o instante tão precioso que vivi.
Ele veio sentar-se no sofá, a meu lado. Buscando continuar a conversa, mostrei-lhe o quadro:
- Muito bonito... - Foi o pai da Yvonne que fez... sim... Aquele quadro devia estar no mesmo lugar há muitos anos, mas ele ainda se maravilhava com a idéia de
que o irmão era o autor.
- Albert tinha uma bela pincelada... O senhor pode ver a assinatura embaixo, à direita: Albert Jacquet. Era um sujeito estranho, meu irmão...
Eu ia formular uma pergunta indiscreta, mas Yvonne saía da cozinha trazendo a bandeja do café. Ela sorria. O cão se espreguiçava. O tio tossia com a ponta do cigarro
na boca. Yvonne se enfiou entre mim e o braço do sofá e pousou a cabeça contra meu ombro. O tio servia o café limpando a garganta e dir-se-ia que rugia. Ele estendia
um açúcar ao cão, que o pegava delicadamente entre os dentes, e eu já sabia que ele não partiria o torrão de açúcar, mas o chuparia, os olhos perdidos no vazio.
Ele jamais mastigava a comida.
Eu não tinha notado uma mesa atrás do sofá, sobre a qual havia um aparelho de rádio de tamanho médio e de cor branca, um modelo a meio caminho entre o aparelho
clássico e o transistor. O tio virou o botão e logo uma música tocou em surdina. Bebíamos, cada um, nosso café, em pequenos goles. O tio de vez em quando apoiava
a nuca contra o espaldar do sofá e fazia
105
argolas de fumaça. Fazia-as bem. Yvonne escutava a música e marcava o compasso com o indicador preguiçoso. Ficamos lá, sem nos dizer nada, como gente que se conhece
desde sempre, três pessoas da mesma família,
- Você devia mostrar a casa para ele - murmurou o tio. Ele tinha fechado os olhos. Levantamo-nos, Yvonne e eu. O cão nos lançou um olhar sorrateiro, levantou-se,
por sua vez, e nos seguiu. Encontrávamo-nos à entrada, ao pé da escada, quando o Westminster soou outra vez, mas de modo mais incoerente e brutal do que da primeira,
tanto que me veio ao espírito a imagem de um pianista doido dando socos e cabeçadas no teclado. O cachorro, aterrorizado, galgou a escadaria e ficou nos esperando
lá em cima. Uma lâmpada pendia do teto e lançava uma luz amarela e fria. O rosto de Yvonne parecia ainda mais pálido em função do turbante rosa e do batom. E eu,
debaixo daquela luz, senti-me inundado de pó de chumbo. A direita, um armário com espelho. Yvonne abriu a porta a nossa frente. Um quarto cuja janela dava para
a Nacional, pois ouvi o barulho abafado de diversos caminhões que passavam.
Ela acendeu a lâmpada de cabeceira. A cama era muito estreita. Aliás, restava apenas o colchão. Em torno dele corria uma prateleira e o conjunto formava um cosy
comer. No canto esquerdo, uma pia minúscula encimada por um espelho. Contra a parede um armário de madeira branco. Ela sentou-se na beira do colchão e me disse:
- Este era meu quarto. O cachorro tinha se instalado no meio de um tapete tão gasto que já não se distinguiam seus motivos. Levantou-se ao cabo de um instante
e saiu do quarto. Eu escrutinei as paredes, inspecionei as prateleiras, esperando descobrir um vestígio da infância de Yvonne. Fazia muito mais calor do que nas
outras peças e ela tirou o vestido. Deitou-se atravessada no colchão. Estava usando ligas, meias, sutiã, tudo aquilo com que as mulheres ainda se estorvavam. Abri
o armário de madeira branca. Talvez houvesse algo lá dentro.
106
- O que está procurando? perguntou ela, apoiando-se nos cotovelos.
Ela franzia os olhos. Reparei numa pequena pasta no fundo da prateleira. Peguei-a e me sentei no chão com as costas apoiadas no colchão. Ela pousou o queixo no
oco de meu ombro e me soprou no pescoço. Eu abri a pasta, enfiei a mão lá dentro e trouxe um velho lápis pela metade que terminava numa borracha cinzenta. O interior
da pasta soltava um odor repulsivo de couro e também de cera - parecia. Numa primeira noite de férias longas, Yvonne a tinha fechado definitivamente.
Ela apagou a luz. Por que cargas d'água estava eu ao lado dela, sobre aquele colchão, naquele quartinho desativado?
Quanto tempo ficamos lá? Impossível confiar no carrilhão cada vez mais louco de Westminster que tocou três vezes à meianoite com alguns minutos de intervalo. Eu
me levantei e na meia penumbra vi que Yvonne se virava para o lado da parede. Talvez estivesse com vontade de dormir. O cão se encontrava no patamar da escada,
em posição de esfinge, na frente do espelho do armário. Ali se contemplava num tédio soberano. Quando passei, não se moveu. Tinha o pescoço muito reto, a cabeça
ligeiramente erguida, as orelhas em pé. Quando cheguei ao meio da escada, ouvi-o bocejar. E sempre aquela luz fria e amarela que descia da lâmpada e me entorpecia.
Pela porta entreaberta da sala de jantar, saía uma música límpida e gelada, dessas que muitas vezes se escuta no rádio, à noite, e que faz pensar num aeroporto
deserto. O tio escutava, sentado na poltrona. Quando entrei, virou a cabeça em minha direção:
- Tudo bem? - E o senhor? - Comigo, tudo bem - ele respondeu. - E o senhor? - Tudo bem. - Podemos continuar, se quiser... Tudo bem? Ele olhava para mim, com
o sorriso congelado, o olho
107
pesado, como se estivesse diante de um fotógrafo que fosse tirar seu retrato.
Estendeu-me o maço de Royale. Risquei quatro fósforos sem sucesso. Enfim, consegui uma chama que aproximei cuidadosamente da ponta do cigarro. E traguei. Tinha
a impressão de fumar pela primeira vez. Ele me espiava, de sobrancelhas franzidas.
- O senhor não é um trabalhador manual - constatou, muito sério.
- Lamento. - Mas por que, meu velho? Acha que é divertido mexer com motor?
Ele olhava as mãos. - Às vezes, deve dar satisfações - disse eu. - Ah, sim? O senhor acha? - Afinal, é uma bela invenção, o automóvel... Mas ele já não me escutava.
A música acabou e o locutor - tinha entonações ao mesmo tempo inglesas e suíças e eu me perguntava qual era sua nacionalidade - pronunciou essa frase, que me ocorre
ainda, depois de tantos anos, repetir em voz alta quando estou sozinho, passeando: "Senhoras e senhores, termina a emissão da Genève-Musique. Até amanhã. Boa noite."
O tio não fez qualquer gesto para virar o botão do aparelho e como eu não ousava intervir, escutava um chiado contínuo, um ruído de parasitas que terminava se
assemelhando ao barulho do vento nas folhagens. E a sala de jantar era invadida por algo fresco e verde.
- É uma boa menina, Yvonne. Ele soltou uma argola de fumaça bastante bem-feita. - É muito mais que uma boa menina respondi. Ele me fixou diretamente os olhos.
com interesse, como se eu acabasse de dizer algo fundamental.
- E se andássemos um pouco? - propôs. - Minhas pernas estão formigando. Levantou-se e abriu a porta da sacada. - Não tem medo?
Mostrava-me com a mão o hangar, cujos contornos se diluíam na escuridão. Distinguia-se, a intervalos regulares, o pequeno luar de uma lâmpada.
- Assim, o senhor vai visitar a garagem... Mal pus o pé na borda daquele imenso espaço negro, senti um cheiro de essência, cheiro que sempre me emocionou - sem
que eu consiga saber por que razões exatas - cheiro tão doce de se respirar quanto o do éter e do papel prateado que envolveu um tablete de chocolate. Ele tinha
me segurado o braço e andávamos por zonas cada vez mais escuras.
- Sim, Yvonne é uma menina estranha... Ele queria puxar conversa. Girava em torno de um assunto que lhe era caro e que com certeza não tinha abordado com muita
gente. Afinal de contas, talvez o estivesse abordando pela primeira vez.
- Estranha, mas muito atraente - disse eu. E em meu esforço para pronunciar uma frase inteligível, meu timbre estava um tanto alto, uma voz de falsete de uma
afetação inaudita.
- Veja o senhor... - Ele hesitava uma última vez antes de se abrir, apertava meu braço. - Ela lembra muito o pai... Meu irmão era um porra-louca...
Avançamos em linha reta. Eu me acostumava pouco a pouco com a escuridão que uma lâmpada furava a cada vinte metros mais ou menos.
- Ela me deu muita preocupação, Yvonne. Ele acendeu um cigarro. De repente, não o via mais, e como tinha me largado o braço, eu me guiava pela ponta incandescente
de seu cigarro. Ele acelerou o passo e tive medo de perdê-lo.
- Digo-lhe isso porque você tem um jeito bem-educado...
Eu dava uma tossidinha. Não sabia o que responder. - O senhor é de boa família, o senhor... - Oh, não... - eu disse.
109
Ele andava a minha frente e eu seguia com o olhar a ponta vermelha do cigarro. Nenhuma lâmpada nas redondezas. Eu estendia os braços à frente, para não dar de
encontro a uma parede.
- Esta é a primeira vez que Yvonne encontra um moço de boa família...
Riso breve. Numa voz muito surda: - Hein, companheiro? Ele me apertou o braço com muita força, à altura do bíceps. Estava à minha frente. Eu via de novo a ponta
fosforescente do cigarro. Não nos mexíamos.
- Ela já fez tanta bobagem... Ele suspirou. - E agora, com essa história de cinema...
Eu não o via, mas raramente tinha sentido num ser tanta prostração e resignação.
- De nada adianta chamá-la à razão... É como o pai... Como Albert.
Puxou-me pelo braço e retomamos a caminhada. Apertava-me o bíceps cada vez com mais força.
- Estou lhe falando disso tudo porque o acho simpático... e bem-educado...
O ruído de nossos passos ressoava por toda aquela extensão. Não entendi como ele conseguia se orientar no escuro. Se me faltasse, não haveria a menor possibilidade
de eu encontrar o caminho.
- E se voltássemos para casa? eu disse. - O senhor veja, Yvonne sempre quis viver acima dos seus meios... E é perigoso... muito perigoso...
Tinha me soltado o bíceps e, para não perdê-lo, eu apertava entre os dedos a aba de seu paletó. Ele não se incomodava.
- Aos 16 anos se virava para comprar quilos de produtos de beleza...
Ele acelerava a marcha, mas eu continuava segurando a aba de seu paletó.
- Ela não queria freqüentar o pessoal do bairro... Preferia os veranistas do Sporting... Como o pai...
110
Três lâmpadas, uma ao lado da outra, acima de nossas cabeças, ofuscaram-me. Ele bifurcava para a esquerda e acariciava a parede com a ponta dos dedos. O ruído seco
de um interruptor. Uma luz muito forte a nossa volta: o hangar estava inteiramente iluminado por projetores fixos no teto. Parecia ainda mais vasto.
- Desculpe, meu amigo, mas só podíamos acender os projetores aqui...
Encontrávamo-nos no fundo do hangar. Alguns carros americanos alinhados um ao lado do outro, um velho ônibus Chausson com os pneus arrebentados. Eu observava,
à nossa esquerda, um ateliê envidraçado que parecia uma estufa e perto do qual estavam dispostos num quadrado caixotes de plantas verdes. Naquele espaço, tinham
jogado cascalho e a hera subia pelo muro. Havia até mesmo um caramanchão, uma mesa e cadeiras de jardim.
- O que acha da minha baiúca, hein, companheiro? Juntamos as cadeiras à mesa do jardim e nos sentamos um à frente do outro. Ele apoiava os dois cotovelos na mesa,
com o queixo nas palmas das mãos. Parecia exausto.
- É aqui que descanso quando estou cheio de mexer com motor... É o meu jardim...
Ele me apontava os carros americanos e depois o ônibus Chausson, atrás.
- Está vendo essas ferragens ambulantes? Fazia um gesto excessivo, como se caçasse uma mosca.
- É terrível não gostar mais do próprio ofício. Eu esboçava um sorriso incrédulo. - Vamos... - E o senhor, ainda gosta de sua profissão? - Sim - disse eu, sem
saber muito bem de que profissão se tratava.
- Na sua idade, se é cheio de entusiasmo... Ele me envolvia com um olhar terno que me comovia. - Cheio de entusiasmo - repetia à meia voz.
111
Ficamos lá, em torno da mesa do jardim, tão pequenos naquele hangar gigantesco. Os caixotes de plantas, a hera e o cascalho compunham um oásis imprevisto. Protegiam-nos
da desolação ambiente: o conjunto de automóveis na expectativa (um deles tinha uma aba a menos) e o ônibus que apodrecia ao fundo. A luz que os projetores difundiam
era fria, mas não amarela como na escada e no corredor que tínhamos atravessado Yvonne e eu. Não. Ela tinha algo de cinza-azulado, aquela luz. Cinza-azulado gelado.
- O senhor quer hortelã? É só o que tenho aqui... Dirigiu-se ao ateliê envidraçado e voltou com dois copos, a garrafa de menta e uma jarra d'água. Brindamos.
- Há dias, meu velho, em que me pergunto o que estou fazendo nessa garagem...
Decididamente, ele sentia necessidade de desabafar naquela noite.
- É grande demais para mim. Varria com o braço toda a extensão do hangar. - Em primeiro lugar, foi Albert que nos deixou... E depois minha mulher... E agora é
Yvonne...
- Mas ela vem sempre ver o senhor - adiantei. -Não. A senhorita quer fazer filmes... Pensa que é Martine Carol...
- Mas ela vai se tornar uma nova Martine Carol - respondi, numa voz firme.
- Vamos... Não diga bobagens... Ela é preguiçosa demais...
Um gole do refresco de hortelã tinha descido mal e ele se sentia estrangulado. Tossia. Não conseguia mais parar e estava ficando vermelho. Ia com certeza sufocar.
Eu lhe dava grandes tapas nas costas até que a tosse se acalmou. Ergueu para mim os olhos cheios de benevolência.
- Não vamos ficar de mau humor... hein, meu amigo? Sua voz estava mais pesada do que nunca. Completamente rouca. Eu só entendia uma em cada duas palavras, mas era
o suficiente para recuperar o resto.
112
- O senhor é um bom rapaz, meu amigo... E polido... O barulho de uma porta que fechavam bruscamente, barulho muito distante, mas que o eco repercutia. Vinha do
fundo do hangar. A porta da sala de jantar, lá embaixo, a uns cem metros de nós. Reconheci a silhueta de Yvonne, seus cabelos ruivos que lhe caíam até os quadris
quando não os penteava. De onde estávamos ela parecia pequena, uma liliputiana. O cão lhe chegava à altura do peito. Não esquecerei jamais a visão daquela menininha
e daquele molosso que andavam em nossa direção e retomavam aos poucos suas verdadeiras dimensões.
- Ei-la - constatou o tio. - Não vai contar para ela o que eu lhe disse, hein? Isso deve ficar entre nós.
- Mas é claro... Não tirávamos os olhos dela, à medida que ela atravessava o hangar. O cachorro vinha de batedor.
- Aparenta ser tão pequena - observei. - Sim, tão pequena - disse o tio. - É uma criança... difícil...
Ela nos percebia e agitava o braço. Gritava: Victor... Victor..., e o eco desse nome que não era o meu repercutia de um extremo a outro do hangar. Chegava perto
de nós e vinha sentar-se à mesa, entre o tio e eu. Estava um pouco esbaforida.
- Que gentil vir nos fazer companhia - disse o tio. - Quer hortelã? Fresca? Com gelo?
Ele nos servia outra vez um copo para cada um. Yvonne me sorria e como de hábito eu sentia uma espécie de vertigem.
- De quê vocês dois falavam? - Da vida - disse o tio. Ele acendeu um Royale e eu sabia que o manteria no canto da boca até que lhe queimasse os lábios.
- Ele é simpático, o conde... E muito bem-educado. - Oh, sim - disse Yvonne. - Victor é um tipo raro. - Repete - disse o tio. - Victor é um tipo raro. - Acham
mesmo? - perguntei, voltando-me para um e
113
para outro. Eu devia estar com uma expressão bizarra pois Yvonne me beliscou a bochecha e disse, como se quisesse me certificar:
- É sim, você é raro. O tio, por sua vez, encarecia. - Raro, meu velho, raro... O senhor é raro... - Muito bem... Fiquei nisso, mas ainda me lembro de que tinha
a intenção de dizer: "Muito bem, o senhor me concede a mão de sua sobrinha?" Era o momento ideal, penso ainda hoje, para pedi-la em casamento. Sim. Não continuei
minha frase. Ele recomeçou, numa voz cada vez mais áspera:
- Raro, meu velho, raro... raro... raro... O cão enfiou a cabeça no meio das plantas e nos observava. Uma nova vida poderia ter começado a partir daquela noite.
Não deveríamos jamais ter nos separado. Eu me sentia tão bem entre ela e ele, em volta da mesa do jardim, naquele grande hangar que com certeza destruíram depois.
114
XI
O tempo envolveu todas essas coisas num vapor de cores mutantes: ora verde pálido, ora azul ligeiramente rosado. Um vapor? Não, um véu impossível de rasgar que
abafa os ruídos e através do qual eu vejo Yvonne e Meinthe mas não os escuto mais. Temo que seus vultos acabem se esfumando e para ainda conservar deles um pouco
de realidade...
Embora Meinthe fosse poucos anos mais velho do que Yvonne, eles se conheceram muito cedo. O que os aproximou foi o tédio que sentiam os dois de viver naquela pequena
cidade e seus projetos para o futuro. Na primeira oportunidade, pensavam em deixar aquele "buraco" (uma das expressões de Meinthe) que só se animava nos meses
de verão durante a "estação". Meinthe, justamente, acabava de se associar a um barão belga miliardário hospedado no Grand Hôtel de Menthon. O barão logo se apaixonou
por ele e isso não me surpreende pois aos vinte anos Meinthe tinha um certo encanto físico e o dom de divertir as pessoas. O belga não vivia mais sem ele. Meinthe
lhe apresentou Yvonne como sendo sua "irmãzinha".
Foi esse barão quem os tirou do "buraco" e eles sempre falaram dele com uma afeição quase filial. Ele possuía uma grande vila em Cap-Ferrat e alugava permanentemente
uma suíte
115
no hotel do Palais de Biarritz e outra no Beau-Rivage de Genebra. A sua volta gravitava uma pequena corte de parasitas dos dois sexos, que os seguia em todos os
deslocamentos.
Meinthe muitas vezes imitou para mim o andar dele. O barão media cerca de dois metros e avançava a passos rápidos, com as costas muito curvadas. Tinha hábitos
curiosos: no verão, não queria se expor ao sol e ficava o dia todo na suíte do hotel do Palais ou no salão de sua vila do Cap-Ferrat. As vigias e cortinas ficavam
fechadas, a luz acesa e ele obrigava alguns efebos a lhe fazer companhia. Estes acabavam perdendo o belo bronzeado.
Ele tinha oscilações de humor e não suportava a contradição. De repente áspero. E no minuto seguinte, muito terno. Ele dizia a Meinthe, num suspiro: "No fundo,
sou a rainha Elizabeth da Bélgica... coitada, COITADA da rainha Elizabeth, você sabe... E você, acho que você compreende essa tragédia..." Em contato com ele,
Meinthe ficou conhecendo os nomes de todos os membros da família real belga e era capaz de rabiscar em alguns segundos sua árvore genealógica no canto de uma toalha
de papel. Muitas vezes o fez na minha frente porque sabia que me divertia.
Daí data também seu culto à rainha Astrid. O barão era um homem de cinqüenta anos na época. Tinha viajado muito e conhecido montes de pessoas interessantes e
refinadas. Freqüentemente visitava seu vizinho no Cap-Ferrat, o escritor inglês Somerset Maugham, de quem era amigo íntimo. Meinthe lembrava-se de um jantar em
companhia de Maugham. Um desconhecido, para ele.
Outras pessoas menos ilustres, mas "divertidas", freqüentavam assiduamente o barão, atraídas por seus caprichos faustosos. Tinha se formado um bando cujos membros
viviam férias eternas. Naquela época, descia-se da vila do Cap-Ferrat a bordo de cinco ou seis automóveis conversíveis. Ia-se dançar em Juan-les-Pins ou participar
dos "Toros de Fuego" de SaintJean-de-Luz.
116
Yvonne e Meinthe eram os mais novos. Ela mal tinha 16 anos e ele vinte. Gostavam muito deles.
Eu pedi a eles que me mostrassem fotografias, mas nem um nem o outro - era o que diziam - tinham guardado. Além disso, não falavam espontaneamente desse período.
O barão morreu em circunstâncias misteriosas. Suicídio? Acidente de automóvel? Meinthe tinha alugado um apartamento em Genebra. Yvonne morava lá. Mais tarde, ela
começou a trabalhar, na qualidade de modelo, para uma casa de costura milanesa, mas não me deu detalhes a respeito. Meinthe freqüentou nesse intervalo a faculdade
de medicina? Ele me afirmou muitas vezes "que exercia a medicina em Genebra" e toda vez eu tinha vontade de perguntar: que medicina? Yvonne evoluía entre Roma,
Milão e a Suíça. Ela era o que se chamava de modelo volante. Pelo menos foi o que me disse. Tinha conhecido Madeja em Roma, em Milão ou no tempo do bando do barão?
Quando lhe perguntava de que maneira tinham se conhecido e por que acaso ele a havia escolhido para trabalhar no Liebesbriefe auf dem Berg, ela se esquivava da
minha pergunta.
Nem ela nem Meinthe jamais me contaram sua vida em detalhe, mas indicações vagas e contraditórias.
Acabei identificando o barão belga que os tirou da província e os levou para a Côte d'Azur e para Biarritz (eles se recusavam a me dizer o nome dele. Pudor? Vontade
de embaralhar as cartas?). Um dia, procurarei todas as pessoas que faziam parte de seu "bando" e talvez haja uma que se lembre de Yvonne... Irei a Genebra, a
Milão. Conseguirei achar as peças do quebracabeça incompleto que me deixaram?
Quando os conheci, era o primeiro verão que passavam em sua cidade natal há bastante tempo e depois de todos aqueles anos de ausência entrecortados por breves estadas,
sentiam-se estranhos ali. Yvonne me confidenciou que ficaria espantada se soubesse, aos 16 anos, que um dia moraria no Hermitage com a impressão de se encontrar
numa estação de águas desconhecida. No início, eu ficava indignado com esse tipo de coisa.
117
Eu, que tinha sonhado nascer numa pequena cidade de província, não compreendia que se pudesse renegar o local da própria infância, as ruas, as praças e as casas
que compunham a própria paisagem original. O próprio abrigo. E que não se retornasse a ele com o coração batendo. Eu explicava a Yvonne com gravidade meu ponto
de vista de apátrida. Ela não me escutava. Estava deitada na cama com robe de seda furado e fumava cigarros Muratti. (Por causa do nome: Muratti, que ela achava
muito chique, exótico e misterioso. Esse nome ítalo-egípcio me fazia bocejar de tédio porque lembrava o meu.) Eu lhe falava da Nacional 201, da igreja de São Cristóvão
e da garagem de seu tio. E o cinema Splendid? E a rua Royale, que ela devia percorrer aos 16 anos, parando em cada vitrine? E tantos outros lugares que eu ignorava
e que com certeza estavam ligados em seu espírito a recordações? A estação, por exemplo, ou os jardins do Casino. Ela dava de ombros. Não. Aquilo tudo não lhe dizia
mais nada.
No entanto, ela me levou várias vezes a uma espécie de grande salão de chá. íamos lá em torno das duas horas da tarde, quando os veranistas estavam na praia ou
dormiam a sesta. Era preciso seguir as arcadas, depois da Taverne, atravessar uma rua, seguir de novo as arcadas: elas, com efeito, corriam em torno de dois
grandes blocos de edifícios construídos na mesma época que o Casino e que lembravam as residências de 1930 da periferia da XVII circunscrição, bulevares Gouvion-Saint-Cyr,
de Dixmude, de Yser e da Somme. O lugar se chamava Réganne e as arcadas o protegiam do sol. Não tinha terraço como a Taverne. Adivinhava-se que aquele estabelecimento
tinha tido seu momento de glória, mas que a Taverne o havia suplantado. Instalávamo-nos a uma mesa do fundo. A menina da caixa, uma morena de cabelo curto que
se chamava Claude, era amiga de Yvonne. Vinha ter conosco. Yvonne lhe pedia notícias de gente sobre quem eu já a tinha escutado falar com Meinthe. Sim, Rosy cuidava
do hotel de La Clusaz no lugar do pai e Paulo Hervieu trabalhava com antiguidades. Pimpin Lavorel continuava
118
dirigindo feito louco. Acabava de comprar um Jaguar. Claude Brun estava na Argélia. A "Yéyette" tinha sumido...
- E você, tudo indo em Genebra? - perguntava Claude. - Oh, sim, você sabe... tudo indo... tudo indo - respondia Yvonne, pensando em outra coisa.
- Você está em sua casa? - Não. No Hermitage. - No Hermitage? Ela sorria ironicamente. - Você tinha que vir ver o quarto - propunha Yvonne -, é engraçado...
- Ah, sim, eu gostaria de ver... Uma noite dessas... Ela tomava um drinque conosco. A grande sala do Réganne estava deserta. O sol desenhava redes sobre a parede.
Atrás do balcão de madeira escura, um afresco representando o lago e a cadeia de Aravis.
- Aqui agora não tem mais ninguém constatava Yvonne.
- Só velhos - dizia Claude. Ela ria um riso incomodado. - Mudou, hein? Yvonne também forçava o riso. Depois calavam-se. Claude contemplava as unhas, cortadas
muito curtas e pintadas com esmalte laranja. Não tinham mais nada a se dizer. Eu gostaria de lhes fazer perguntas. Quem era Rosy? E Paulo Hervieu? Desde quando
elas se conheciam? Como era Yvonne aos 16 anos? E o Réganne antes de o terem transformado em salão de chá? Mas aquilo tudo não lhes interessava mais, nem a uma,
nem a outra. Em suma, só eu me preocupava com o passado delas de princesas francesas.
Claude nos acompanhava até a porta giratória e Yvonne a beijava. Ainda lhe propunha:
- Venha ao Hermitage quando quiser... Para ver o quarto...
- Está bem, uma noite dessas... Mas nunca veio.
119
Com exceção de Claude e do tio, parecia que Yvonne nada tinha deixado para trás naquela cidade, e eu me espantava de que se pudesse cortar tão depressa as raízes
quando, por acaso, tínhamos em algum lugar.
Os quartos dos "palácios" iludem, nos primeiros dias, mas logo suas paredes e seus móveis taciturnos desprendem a mesma tristeza que os dos hotéis sujos. Luxo insípido,
odor adocicado nos corredores, que não consigo identificar, mas que deve ser mesmo o odor da inquietude, da instabilidade, do exílio e do alarme. Odor que jamais
deixou de me acompanhar. Saguões de hotel onde meu pai marcava encontros comigo, com suas vitrines, seus espelhos e seus mármores e que são apenas salas de espera.
De que, exatamente? Bolores de passaportes Nansen.
Mas nós não passávamos sempre a noite no Hermitage. Duas ou três vezes por semana Meinthe nos pedia que dormíssemos na casa dele. Tinha que se ausentar nessas noites
e me encarregava de atender ao telefone e tomar nota dos nomes e "mensagens". Especificou que o telefone poderia tocar a qualquer hora da noite, sem me revelar
quais eram seus misteriosos interlocutores.
Ele morava na casa que tinha pertencido a seus pais, no meio de um bairro residencial, antes de Carabacel. Pegava-se a avenida de Albigny e virava-se à esquerda,
logo depois da prefeitura. Quarteirão deserto, ruas ladeadas de árvores cujas folhagens formavam abóbadas. Vilas da burguesia local em volumes e estilos variáveis,
conforme o grau de fortuna. A dos Meinthe, na esquina da avenida Jean-Charcot e da rua Marlioz, era bastante modesta comparada às outras. Tinha uma cor azulcinza,
uma varandinha dando para a avenida Jean-Charcot e uma bow window do lado da rua. Dois andares, o segundo com mansarda. Um jardim de chão de cascalho. Uma cerca
de sebe abandonada. E no portão de madeira branca descascado, Meinthe tinha inscrito grosseiramente com tinta preta (foi ele que me contou): "Ville triste".
120
Com efeito, ela não respirava alegria, aquela vila. Não. No entanto, no início achei que o qualificativo "triste" não lhe convinha. E depois acabei compreendendo
que Meinthe tinha razão, se se percebe na sonoridade da palavra "triste" algo de doce e cristalino. Ultrapassado o portão da vila, éramos tomados por uma melancolia
límpida. Entrava-se numa zona de calma e de silêncio. O ar era mais leve. Flutuava-se. Os móveis, sem dúvida, tinham se perdido. Restava apenas um pesado sofá
de couro nos braços do qual eu notava marcas de unhas e, à esquerda, uma biblioteca envidraçada. Ao sentar no sofá, tinha-se, a cinco ou seis metros à frente, a
varanda. O assoalho era claro, mas mal cuidado. Uma lâmpada de louça com abajur amarelo colocado no próprio chão iluminava aquele grande cômodo. O telefone ficava
numa sala ao lado, a que se tinha acesso por um corredor. A mesma falta de móveis. Uma cortina vermelha ocultava a janela. As paredes eram de cor ocre, como as
do salão. Contra a parede da direita, uma cama de armar. Pregados na parede oposta, à altura de uma pessoa, um mapa Taride da África ocidental francesa e uma grande
vista aérea de Dacar, cercada por uma moldura muito fina. Parecia provir de um órgão de turismo. A fotografia meio marrom devia ter uns vinte anos de idade. Meinthe
me contou que seu pai tinha trabalhado algum tempo "nas colônias". O telefone ficava junto à cama. Um pequeno lustre com velas falsas e falsos cristais. Meinthe
dormia ali, acho.
Abríamos a porta da sacada e nos deitávamos no sofá. Ele tinha um cheiro muito particular de couro que só encontrei nele e nas duas poltronas que ornavam o escritório
de meu pai, na rua Lord-Byron. Era no tempo das viagens dele a Brazzaville, no tempo da misteriosa e quimérica Sociedade Africana de Empreendimento, que ele criou,
e sobre a qual não sei grande coisa. O cheiro do sofá, o mapa Taride da A.O.F. e a fotografia aérea de Dacar compunham uma série de coincidências. Em meu espírito,
a casa de Meinthe estava indissoluvelmente ligada à Sociedade Africana de Empreendimento, três palavras que
121
embalaram minha infância. Eu reencontrava o clima da rua Lord-Byron, perfume de couro, penumbra, conciliábulos intermináveis de meu pai com negros muito elegantes
de cabelos brancos... Era por isso que quando ficávamos Yvonne e eu no salão eu tinha a certeza de que o tempo tinha deveras parado?
Nós flutuávamos. Nossos gestos tinham uma lentidão infinita e quando nos deslocávamos era centímetro por centímetro. De rastos. Um movimento brusco teria destruído
o encanto. Falávamos em voz baixa. A noite invadia a sala pela varanda e eu via grãos de poeira estagnarem no ar. Um ciclista passava e eu ouvia o ronronar da
bicicleta durante vários minutos. Também ele progredia centímetro por centímetro. Ele flutuava. Tudo flutuava a nossa volta. Nós nem acendíamos a luz quando a
noite caía. O poste mais próximo, na avenida Jean-Charcot, difundia uma claridade de neve. Nunca sair dessa vila. Nunca deixar essa sala. Deitar no sofá ou talvez
no chão, como fazíamos cada vez com maior freqüência. Eu me espantava por descobrir em Yvonne uma aptidão tamanha para o abandono. Em mim, aquilo correspondia a
um horror ao movimento, uma inquietação em relação a tudo o que se move, que passa e que muda, ao desejo de não mais andar sobre areia movediça, de me fixar em
algum lugar, à necessidade de me petrificar. Mas e nela? Acho que era simplesmente preguiçosa. Como uma alga.
Chegávamos a deitar no corredor e lá permanecer a noite toda. Uma noite, rolamos para o fundo de um quarto de despejo, embaixo da escada que levava ao primeiro
andar e nos vimos prensados entre volumes imprecisos que identifiquei como sendo baús de vime. Mas não, não estou sonhando: nos deslocávamos de rastos. Partíamos
cada um de um ponto oposto da casa e rastejávamos no escuro. Era preciso ser o mais silencioso possível, e o mais lento, para que um dos dois surpreendesse o outro.
Uma vez Meinthe só voltou na noite seguinte. Não tínhamos nos deslocado da vila. Continuávamos esticados no assoalho, à borda da varanda. O cão dormia no meio do
sofá.
Era uma tarde pacífica e ensolarada. As folhas das árvores oscilavam docemente. Uma música militar muito longe. De vez em quando, um ciclista passava pela avenida
num zumbido de asas. Logo não ouvíamos mais ruído algum. Eram abafados por um acolchoado muito macio. Acho que se não fosse a chegada de Meinthe, não teríamos
nos mexido durante dias e dias, morreríamos de fome e de sede, para não ter que sair da vila. Nunca vivi depois momentos tão plenos e tão lentos como aqueles. O
ópio parece produzi-los. Eu duvido.
O telefone tocava sempre depois de meia-noite, à moda antiga, tiritando. Campainha delicada, usada, tocava baixinho. Mas era o suficiente para criar uma ameaça
no ar e rasgar o véu. Yvonne não queria que eu atendesse. "Não vai", ela cochichava. Eu rastejava tateando ao longo do corredor, não encontrava a porta da sala,
apoiava a cabeça contra a parede. E, com a porta aberta, era preciso ainda rastejar até o aparelho, sem qualquer ponto de referência visível. Antes de tirar do
gancho, eu experimentava uma sensação de pânico. Aquela voz - sempre a mesma - aterrorizava-me, dura e ao mesmo tempo ensurdecida por uma coisa qualquer. A distância?
O tempo? (Às vezes, poder-se-ia imaginar que se tratava de uma velha gravação.) Começava, invariavelmente, com:
- Alô, aqui é Henri Kustiker... Está me ouvindo? Eu respondia: "Sim". Uma pausa. - O senhor diga ao doutor que o esperamos amanhã às 21 horas no Bellevue, em
Genebra. O senhor entendeu?...
Eu soltava um sim mais fraco do que o primeiro. Ele desligava. Quando não marcava encontros, confiava-me mensagens:
- Alô, aqui é Henri Kustiker... - Uma pausa. - O senhor diga ao doutor que o comandante Max e Guérin chegaram. Viremos vê-lo amanhã à noite... amanhã à noite...
Eu não tinha força para responder. Ele já desligava. "Henri Kustiker" - toda vez que perguntávamos sobre ele a Meinthe,
123
ele não respondia - tornou-se para nós um personagem perigoso que ouvíamos rondar a vila. Não o conhecíamos de rosto e por isso ele se tornava cada vez mais obcecante.
Eu me divertia aterrorizando Yvonne. Afastava-me dela e repetia no escuro, numa voz lúgubre:
- Aqui é Henri Kustiker... Aqui é Henri Kustiker... Ela berrava. E por contágio, o medo me dominava também. Esperávamos, com o coração batendo, o tiritar do telefone.
Nós nos encolhíamos debaixo da cama de armar. Uma noite ele tocou mas só consegui tirar o aparelho do gancho depois de vários minutos, como naqueles pesadelos
em que todos os nossos gestos têm peso de chumbo.
- Alô, aqui é Henri Kustiker... Eu não conseguia proferir uma única sílaba. - Alô... Está me ouvindo?... Está me ouvindo?... Prendíamos a respiração. - Aqui
é Henri Kustiker, está me ouvindo?... A voz estava cada vez mais fraca. - Kustiker... Henri Kustiker... Está me ouvindo?... Quem era ele? De onde podia estar
telefonando? Um ligeiro murmúrio ainda.
- Tiker... ouvindo... Mais nada. O último fio que nos ligava ao mundo exterior acabava de se romper. Nós nos deixávamos deslizar de novo até as profundezas onde
mais ninguém - eu esperava - viesse nos perturbar.
124
XII
É o terceiro "porto claro" dele. Ele não tira os olhos da fotografia grande de Hendrickx por cima das fileiras de garrafas. Hendrickx na época de seu esplendor,
vinte anos antes daquele verão em que fiquei furioso por vê-lo dançar, na noite da taça, com Yvonne. Hendrickx jovem, magro e romântico - mistura de Mermoz com
o duque de Reichstadt - uma velha fotografia que a menina que tomava conta do botequim do Sporting tinha me mostrado um dia quando eu lhe fazia perguntas sobre
meu "rival". Ele engordou muito depois.
Suponho que Meinthe, ao contemplar aquele documento histórico, tenha acabado sorrindo, com seu sorriso inesperado que jamais exprimia alegria, mas que era uma
descarga nervosa. Pensou na noite em que nos encontrávamos os três na SainteRose, depois da taça? Deve ter contado os anos: cinco, dez, 12... tinha mania de contar
os anos e os dias. "Daqui a um ano e 33 dias será meu vigésimo sétimo aniversário... Faz sete anos e cinco dias que Yvonne e eu nos conhecemos..."
O outro cliente saía, num andar hesitante, depois de ter acertado seus "dry", mas tinha se recusado a acrescentar o preço dos telefonemas, dizendo que não tinha
pedido o "233 em Chambéry". Como a discussão ameaçava prolongar-se até a
125
aurora, Meinthe lhe tinha explicado que acertaria ele próprio o telefone. E que, aliás, tinha sido ele mesmo, Meinthe, quem tinha pedido o 233 em Chambéry. Ele
e somente ele.
Daqui a pouco meia-noite. Meinthe lança um último olhar para a fotografia de Hendrickx e se dirige à porta do Cintra. No momento em que vai sair, dois homens entram,
empurrando-o, e mal se desculpam. Depois três. Depois cinco. Vêm em número cada vez maior, e ainda vêm mais. Cada um deles traz, pregado na parte de trás do casaco,
um pequeno retângulo de papelão em que se lê: "Inter-Touring". Falam muito alto, riem muito alto, dão grandes tapas nas costas. Os membros do "congresso" de que
falava há pouco a garçonete. Um deles, mais cercado de gente do que os outros, fuma cachimbo. Eles fazem reviravoltas em torno dele e o interpelam: "Presidente...
Presidente... Presidente...". Meinthe tenta em vão abrir caminho. Eles recuaram quase para junto do bar. Formam grupos compactos. Meinthe os contorna, procura
um buraco, intromete-se, mas sente outra vez a pressão deles e perde terreno. Transpira. Um deles lhe pôs a mão no ombro, achando, sem dúvida, que se trata de
um "confrade" e Meinthe é logo integrado a um grupo: o do "presidente". Estão comprimidos como na estação Chaussée d'Antin nas horas de pico. O presidente, de
menor estatura, protege o cachimbo envolvendo-o com a palma da mão. Meinthe consegue se soltar daquela confusão, dá uns empurrões com os ombros, umas cotoveladas
e se lança, afinal, contra a porta. Ele a entreabre e desliza para a rua. Alguém sai atrás dele e o repreende:
- Onde vai? O senhor é do Inter-Touring? Meinthe não responde. - O senhor deve ficar. O presidente está oferecendo um "pot"... Vamos, fique...
Meinthe apressa o passo. O outro recomeça, com uma voz suplicante:
- Vamos, fique... Meinthe anda cada vez mais depressa. O outro se põe a gritar:
126
- O presidente vai perceber que está faltando um cara do Inter-Touring... Volte... Volte...
Sua voz soa clara na rua deserta. Mei nthe agora se encontra diante do jato d'água do Casino. No inverno, ele não muda de cor e sobe bem menos do que durante
a "estação". Ele o observa um instante e depois atravessa e segue a avenida de Albigny pela calçada da esquerda. Anda lentamente e faz ligeiros ziguezagues. Dir-se-ia
que flana. De vez em quando, dá um tapinha na casca de um plátano. Ladeia a prefeitura. É claro, pega a primeira rua à esquerda que se chama - se minhas recordações
estão corretas - avenida MacCroskey. Há 12 anos essa fileira de prédios novos não existia. No lugar havia um parque abandonado no meio do qual se erguia uma casa
grande em estilo anglo-normando, desabitada. Ele chega à encruzilhada Pelliot. Nós freqüentemente nos sentamos num dos bancos, Yvonne e eu. Ele pega, à direita,
a avenida Pierre-Forsans. Eu poderia fazer esse caminho de olhos fechados. O bairro não mudou muito. Pouparam-no, por razões misteriosas. As mesmas vilas cercadas
por seus jardins e pequenas sebes, as mesmas árvores dos dois lados das avenidas. Mas faltam as folhas. O inverno dá a tudo isso uma característica desolada.
Eis-nos na rua Marlioz. A vila está na esquina, lá em baixo, à esquerda. Eu a vejo. Eu o vejo, andando num passo ainda mais lento do que há pouco e empurrando com
o ombro o portão de madeira. Você sentou no sofá do salão e não acendeu a luz. O poste, em frente, espalha sua claridade branca.
"8 de dezembro... Um médico de A..., Sr. René Meinthe, 37 anos, suicidou-se na noite de sexta-feira para sábado em seu domicílio. O desesperado tinha aberto o
gás."
Eu contornava - já não sei por quê - as arcadas, rua de Castiglione, quando li essas poucas linhas num jornal vespertino. Le Dauphiné, diário da região, dava mais
detalhes. Meinthe recebia as honras da primeira página, com a manchete: "O
127
SUICÍDIO DE UM MÉDICO DE A...", que remetia para a página 6, a das informações locais:
"8 de dezembro. O doutor René Meinthe suicidou-se, na noite passada, na sua vila, no número 5 da avenida Jean-Charcot. A senhorita B., empregada do doutor, ao
entrar na casa, como toda manhã, foi logo alertada por um cheiro de gás. Era tarde demais. O doutor Meinthe teria deixado uma carta.
Ele tinha sido visto ontem à noite na estação, no momento da chegada do expresso com destino a Paris. Segundo uma testemunha, teria passado algum tempo no Cintra,
rua Sommeiller, 23.
O doutor René Meinthe, depois de ter exercido a medicina em Genebra, tinha voltado há cinco anos a A..., berço de sua família. Aí praticava a osteopatia. Eram conhecidas
suas dificuldades de ordem profissional. Elas explicam seu gesto desesperado?
Ele tinha 37 anos. Era filho do doutor Henri Meinthe, que foi um dos heróis e mártires da Resistência e é nome de uma rua de nossa cidade."
Andei ao acaso e meus passos me conduziram até a praça do Carrousel, que atravessei. Entrei num dos dois pequenos jardins que cercam o palácio do Louvre, na frente
da Cour Carrée. Fazia um doce sol de inverno e crianças brincavam sobre o gramado em declive, ao pé da estátua do general La Fayette. A morte de Meinthe deixaria
para sempre certas coisas na sombra. Assim, eu jamais viria a saber quem era Henri Kustiker. Repeti esse nome em voz alta: Kus-ti-ker, Kus-ti-ker, um nome que
não tinha mais sentido, exceto para mim. E para Yvonne. Mas o que tinha acontecido com ela? O que torna o desaparecimento de um ser mais sensível são as palavras
- a senha - que existiam entre ele e nós e que de repente ficam inúteis e vazias.
Kustiker... Na época, eu tinha feito mil suposições, cada uma mais inverossímil do que a outra, mas a verdade, eu sentia isso, devia ser, também ela, esquisita.
E inquietante. Meinthe,
128
às vezes, nos convidava para tomar chá na vila. Uma tarde, por volta das cinco horas, encontrávamo-nos no salão. Escutávamos a música preferida de René: The Café
Mozart Waltz, cujo disco ele punha e repunha. Tocaram à porta. Ele tentou reprimir um tique nervoso. Eu vi - e Yvonne também - dois homens no patamar da escada
segurando um terceiro com o rosto inundado de sangue. Eles atravessaram rapidamente o vestíbulo e se dirigiram ao quarto de Meinthe. Ouvi um dos dois dizer:
- Dê uma injeção de cânfora. Senão esse porcalhão vai bater as botas em nossas mãos...
Sim. Yvonne escutou a mesma coisa. René veio ter conosco e nos pediu para ir embora no ato. Disse num tom seco: "Depois explico..."
Não nos explicou, mas tinha sido suficiente entrever os dois homens para saber que se tratava de "policiais" ou indivíduos que tinham uma relação qualquer com a
polícia. Alguns fragmentos, algumas mensagens de Kustiker confirmaram essa opinião. Era a época da guerra da Argélia e Genebra, onde Meinthe mantinha seus encontros,
servia como eixo. Agentes de todos os tipos. Polícias paralelas. Redes clandestinas. Nunca entendi nada disso. Que papel desempenhava René naquilo? Diversas vezes
adivinhei que ele gostaria de se abrir comigo, mas sem dúvida me julgava jovem demais. Ou simplesmente era tomado, antes das confidências, por um imenso cansaço
e preferia guardar seu segredo.
Uma noite, no entanto, quando eu não parava de lhe perguntar que tipo de brincadeira era aquele "Henri Kustiker" e Yvonne implicava com ele, repetindo a frase ritual
- "Alô, aqui é Henri Kustiker..." - sua aparência era mais tensa do que de costume. Ele declarou surdamente: "Se vocês soubessem tudo o que esses sujos me obrigam
a fazer..." E acrescentou numa voz breve: "Bom seria se eu pudesse esquecer as histórias deles de Argélia..." No minuto seguinte, voltava à despreocupação e ao
bom humor e nos propunha ir à Sainte-Rose.
Depois de 12 anos, eu me dava conta de que não sabia
129
muita coisa sobre René Meinthe e condenava minha falta de curiosidade na época em que o via todos os dias. Depois, a figura de Meinthe - e a de Yvonne também -
embaralharam-se e eu tinha a impressão de não mais distingui-las a não ser através de um vidro fosco.
Lá, naquele banco de praça, com o jornal que anunciava a morte de René a meu lado, revi breves seqüências daquela estação, mas tão vagas como de costume. Uma noite
de sábado, por exemplo, quando jantávamos, Meinthe, Yvonne e eu, numa pequena tasca à beira do lago. Em torno de meia-noite, um grupo de malandros cercava nossa
mesa e começava a nos atacar. Meinthe, com o maior sangue-frio, tinha apanhado uma garrafa, quebrado contra a borda da mesa e brandia o gargalo cheio de pontas.
- O primeiro que se aproximar, eu corto a garganta... Disse essa frase num tom de alegria malvada que me dava medo. Aos outros também. Eles recuaram. No caminho
de volta, René cochichou:
- Quando eu penso que ficaram com medo da rainha Astrid...
Ele admirava particularmente essa rainha e sempre levava consigo uma fotografia dela. Acabou se convencendo de que, numa vida anterior, ele tinha sido a jovem,
bela e infeliz rainha Astrid. Com a fotografia de Astrid, levava aquela onde figurávamos nós três, na noite da taça. Eu tenho uma outra, tirada na avenida de Albigny,
em que Yvonne me segura pelo braço. O cachorro está a nosso lado, grave. Dir-se-ia uma fotografia de noivado. E depois, conservei uma outra muito mais antiga,
que Yvonne me deu. Data do tempo do barão. Vêem-se os dois, Meinthe e ela, numa tarde ensolarada, sentados no terraço do bar Basque de Saint-Jean-de-Luz.
São essas as únicas imagens nítidas. Uma bruma aureola todo o resto. Saguão e quarto do Hermitage. Jardins do Windsor e do hotel Alhambra. Vila Triste. A Sainte-Rose.
Sporting. Casino. Houligant. E as sombras de Kustiker (mas quem era Kustiker?), de Yvonne Jacquet e de um tal de conde Chmara.
130
XIII
Foi mais ou menos nessa época que Marilyn Monroe nos deixou. Eu tinha lido muitas coisas a seu respeito nas revistas e a citava como exemplo para Yvonne. Ela também,
se quisesse, poderia fazer uma bela carreira no cinema. Francamente, tinha tanto charme quanto Marilyn Monroe. Bastava-lhe ter a mesma perseverança.
Ela me escutava sem nada dizer, deitada na cama. Eu falava do início difícil de Marilyn Monroe, das primeiras fotografias para folhinhas, dos primeiros pequenos
papéis, dos degraus galgados um após o outro. Ela, Yvonne Jacquet, não devia parar no meio do caminho. "Modelo volante." Em seguida, um primeiro papel em Liebesbriefe
auf dem Berg, de Rolf Madeja. E acabava de levar a Taça Houligant. Cada etapa tinha sua importância. Era preciso pensar na próxima. Subir um pouco mais. Um pouco
mais.
Ela não me interrompia quando eu lhe expunha minhas idéias acerca de sua "carreira". Escutava-me de verdade? No início, sem dúvida, ficou surpresa com tamanho
interesse de minha parte, e lisonjeada por eu entretê-la com seu belo futuro com tanta veemência. Talvez, por instantes, eu lhe tenha comunicado meu entusiasmo
e ela se punha, também, a sonhar. Mas aquilo não durava, suponho. Ela era mais velha do que eu. Quanto
131
mais penso nisso, mais me digo que ela vivia aquele momento da juventude em que tudo de repente vai balançar, em que vai ser um pouco tarde demais para tudo.
O barco ainda está no cais, basta atravessar o passadiço, restam alguns minutos... Uma doce ancilose lhe toma.
Meus discursos a faziam rir, às vezes. Cheguei a vê-la dar de ombros quando lhe disse que os produtores com certeza iriam notar sua aparição em Liebesbriefe auf
dem Berg. Não, ela não acreditava nisso. Ela não tinha o fogo sagrado. Mas Marilyn Monroe também não, no início. Isso vem, o fogo sagrado.
Muitas vezes me pergunto onde ela pode ter falhado. Com certeza, ela não é mais a mesma e sou obrigado a consultar as fotografias para ter bem na memória o rosto
que ela tinha naquela época. Tento em vão, há anos, ver Liebesbriefe auf dem Berg. As pessoas a quem perguntei me disseram que esse filme não existia. O próprio
nome de Rolf Madeja não lhes dizia grande coisa. Eu lamento. No cinema teria reencontrado sua voz, seus gestos e seu olhar tais como os conheci. E amei.
Onde quer que ela esteja - muito longe, imagino - lembra-se vagamente dos projetos e dos sonhos que eu arquitetava no quarto do Hermitage, enquanto preparávamos
a refeição do cachorro? Lembra-se da América?
Pois, se atravessávamos os dias e as noites em deliciosa prostração, isso não me impedia de pensar em nosso futuro, que eu via em cores cada vez mais exatas. Eu
tinha, com efeito, pensado seriamente no casamento de Marilyn Monroe e Arthur Miller, casamento entre uma verdadeira americana, saída do mais profundo da América,
e um judeu. Nós teríamos um destino um tanto parecido, Yvonne e eu. Ela, francesinha da terra, que viriá a ser daqui a alguns anos uma estrela de cinema. E eu,
que terminaria sendo um escritor judeu, com grossíssimos óculos de tartaruga.
Mas a França, de repente, pareceu ser um território por demais estreito, onde eu não conseguiria de fato mostrar do que
132
era capaz. O que poderia alcançar naquele pequeno país? Um comércio de antiguidades? Um emprego de comerciante de livros? Uma carreira de literato tagarela e friorento?
Nenhuma dessas profissões despertava meu entusiasmo. Era preciso partir, com Yvonne.
Eu não deixaria nada para trás, pois não tinha ligações em lugar algum e Yvonne havia rompido as dela. Teríamos uma vida nova.
Inspirei-me no exemplo de Marilyn Monroe e Arthur Miller? Logo pensei na América. Lá, Yvonne se dedicaria ao cinema. E eu à literatura. Nós nos casaríamos na grande
sinagoga do Brooklyn. Encontraríamos dificuldades múltiplas. Talvez elas nos massacrassem definitivamente, mas se as vencêssemos, então o sonho tomaria forma. Arthur
e Marilyn. Yvonne e Victor.
Eu previa para bem mais tarde um retorno à Europa. Nós nos aposentaríamos numa região montanhosa - Tessin ou Engadine. Moraríamos num imenso chalé, cercado por
um parque. Numa estante, os Oscars de Yvonne e meus diplomas de doutor honoris causa das universidades de Vale e do México. Teríamos uma dezena de dogues alemães,
encarregados de retalhar os eventuais visitantes e jamais veríamos ninguém. Passaríamos dias jogados no quarto como nos tempos do Hermitage e da Vila Triste.
Para esse segundo período de nossa vida, eu tinha me inspirado em Paulette Godard e Erich Maria Remarque.
Ou então ficávamos na América. Encontrávamos uma grande casa no campo. O título de um livro largado no salão de Meinthe tinha me impressionado: A verde relva do
Wyoming. Nunca o li, mas basta repetir A verde relva do Wyoming para eu sentir uma fisgada no coração. Definitivamente, era naquele país que não existe, no meio
daquela relva alta e de um verde transparente, que eu gostaria de viver com Yvonne.
133
O projeto de partida para a América, refleti sobre ele diversos dias antes de falar com ela. Havia o risco de ela não me levar a sério. Era preciso, antes, acertar
os detalhes materiais. Não improvisar nada. Eu juntaria o dinheiro da viagem. Dos 800 mil francos que tinha arrancado do bibliófilo de Genebra, restava em torno
da metade, mas eu contava com outro recurso: uma borboleta extremamente rara que levava há alguns meses nas malas, espetada no fundo de uma caixinha de vidro.
Um perito tinha me afirmado que o animal valia "por baixo" 400 mil francos. Ele valia, conseqüentemente, o dobro e eu poderia conseguir o triplo se o vendesse
a um colecionador. Eu mesmo apanharia os bilhetes na companhia geral transatlântica e acabaríamos no hotel Algonquin de Nova York.
Em seguida, eu contava com minha prima, Bella Darvi, que tinha feito carreira lá, para nos introduzir no meio do cinema. Pronto. Era esse, em grandes linhas, meu
plano.
Contei até três e me sentei num degrau da grande escadaria. Através da rampa, via o balcão da recepção, embaixo, e o porteiro que falava com um indivíduo careca
de smoking. Ela se virou, surpresa. Estava usando seu vestido de musselina verde e um lenço da mesma cor.
- E se fôssemos para a América? Eu tinha criado aquela frase com medo que ela ficasse no fundo da garganta ou que se transformasse num arroto. Respirei bem e repeti
também alto:
- E se fôssemos para a América? Ela veio se sentar no degrau, a meu lado, e me apertou o braço.
- Você não está bem? - perguntou. - Claro que estou. É muito simples... Muito, muito simples... Vamos para a América...
Ela examinou os sapatos de salto, beijou-me no rosto e me disse que eu lhe explicaria aquilo mais tarde. Já passava das
134
nove horas e Meinthe nos esperava na Resserre deVeyrier-duLac.
O lugar lembrava os albergues das cercanias de Mame. As mesas estavam arrumadas numa grande chata, em torno da qual haviam posto grades e tinas de plantas e arbustos.
Jantavase à luz de velas. René tinha escolhido uma das mesas mais próximas da água.
Ele vestia seu terno de xantungue bege e nos acenou com o braço. Estava em companhia de um moço que nos apresentou, mas cujo nome esqueci. Sentamo-nos à frente
deles.
- É muito agradável aqui - declarei - para iniciar a conversa.
- É, pode ser - disse René. - Este hotel é mais ou menos um ponto de encontro...
- Desde quando? - perguntou Yvonne. - Desde sempre, minha querida. Ela me olhou de novo, caindo na gargalhada. E depois: - Sabe o que o Victor me propôs? Quer
me levar para a América.
- Para a América? Visivelmente, ele não estava compreendendo. - Idéia esquisita. - Sim - eu disse. - Para a América. Ele me sorriu com um ar cético. Para ele,
tratava-se de palavras ao vento. Virou-se para o amigo.
- E então, melhorou? O outro respondeu com um sinal de cabeça. - Agora você tem que comer. Ele lhe falava como a uma criança, mas o rapaz devia ser um pouco
mais velho do que eu. Tinha o cabelo louro curto, um rosto de traços angelicais e uma largura de lutador.
René nos explicou que o amigo tinha concorrido à tarde pelo título de "mais belo atleta da França". A prova tinha acontecido no Casino. Ele tinha ficado apenas
com o terceiro lugar
135
dos juniores. O outro passou a mão no cabelo e, dirigindo-se a mim:
- Não tive sorte... Eu o ouvia falar pela primeira vez e, pela primeira vez, notei seus olhos de um azul lavanda. Ainda hoje me lembro da aflição infantil daquele
olhar. Meinthe encheu o prato dele de alimentos crus. O outro dirigia-se sempre a mim e também a Yvonne. Sentia-se à vontade.
- Esses sujos do júri... eu devia ter ganho a melhor nota em poses plásticas livres... - Cale-se e coma - disse Meinthe, num tom afetuoso.
De nossa mesa, viam-se as luzes da cidade, ao fundo, e virando-se ligeiramente a cabeça uma outra luz, muito brilhante, chamava a atenção, bem à frente, na margem
oposta: a SainteRose. Naquela noite, as fachadas do Casino e do Sporting estavam sendo varridas por projetores cujos fachos atingiam as bordas do lago. A água tomava
matizes vermelhos ou verdes. Eu escutava uma voz desmesuradamente amplificada por um altofalante, mas estávamos longe demais para apreender as palavras. Tratava-se
de um espetáculo som e luz. Eu tinha lido na imprensa local que nessa ocasião um ator da Comédie-Française, Marchat, acho eu, declamaria O lago, de Alphonse de
Lamartine. Eram, sem dúvida, da voz dele os ecos que percebíamos.
- Devíamos ter ficado na cidade para ver - disse Meinthe. - Eu adoro o som e luz. E você?
Ele se dirigia ao amigo. - Não sei - respondeu o outro. Seu olhar estava ainda mais desesperado do que no primeiro instante.
- Poderíamos passar lá daqui a pouco - propôs Yvonne sorrindo.
- Não - disse Meinthe -, esta noite tenho que ir a Genebra.
O que ia fazer lá? Com quem se encontrava no Bellevue ou no Pavillon Arosa, aqueles locais que me indicava Kustiker
136
pelo telefone? Um dia, não voltaria vivo. Genebra, cidade de aparência asséptica, mas devassa. Cidade incerta. Cidade de trânsito.
- Vou ficar lá uns três ou quatro dias - disse Meinthe. - Telefono para vocês quando voltar.
- Mas teremos partido para a América, Victor e eu, daqui até lá - disse Yvonne.
E ela riu. Eu não entendia por que ela levava meu projeto na brincadeira. Eu sentia uma raiva surda tomar conta de mim.
- Enjoei da França - eu disse, num tom sem réplica. - Eu também - disse o amigo de Meinthe, de modo brutal que contrastava com a timidez e a tristeza que tinha
mostrado até então. E essa observação distendeu a atmosfera.
Meinthe tinha pedido bebida e éramos os únicos clientes que ainda permanecíamos no pontão. Os alto-falantes, na distância, difundiam uma música de que só nos chegavam
fragmentos.
- Essa é a banda municipal disse Meinthe. - Ela toca em todos os som e luz. Ele se virou para nós: O que é que vocês vão fazer esta noite?
- Fazer as malas para ir para a América - declarei, secamente.
De novo, Yvonne me examinou com inquietude. - Ele continua com a América dele - disse Meinthe. - Então vocês iriam me deixar aqui sozinho?
- Claro que não - eu disse. Brindamos os quatro, sem mais nem menos, sem razão alguma, mas porque Meinthe o propunha. Seu amigo esboçou um sorriso pálido e seus
olhos azuis foram atravessados por um lampejo furtivo de alegria. Yvonne me deu a mão. Os serventes já começavam a arrumar as mesas.
São essas as recordações que ficaram desse último jantar.
137
Ela me escutava, franzindo as sobrancelhas, de uma maneira estudiosa. Estava deitada na cama, vestida com o velho robe de seda de bolas vermelhas. Eu lhe explicava
meu plano: a companhia geral transatlântica, o hotel Algonquin e minha prima Bella Darvi... A América em cuja direção vogaríamos dali a alguns dias, aquela terra
prometida que me parecia, à medida que eu falava, cada vez mais próxima, quase ao alcance da mão. Já não se viam as luzes, lá embaixo, do outro lado do lago?
Ela me interrompeu duas ou três vezes para me fazer perguntas: "O que é que vamos fazer na América? Como poderemos obter vistos? Com que dinheiro viveremos?" E eu
mal me dava conta, tão entretido estava com meu tema, de que sua voz se tornava cada vez mais pastosa. Ela estava com os olhos semicerrados ou mesmo fechados,
e de repente os abria arregaladamente e me examinava com uma expressão horrorizada. Não, nós não podíamos permanecer na França, naquele pequeno país sufocante,
em meio àqueles "degustadores" afogueados, aqueles ciclistas de corrida e aqueles gastrônomos dementes que sabiam diferenciar diversas espécies de peras. Eu sufocava
de raiva. Não podíamos permanecer nem um minuto mais naquele país onde se faziam caçadas, perseguições. Acabado. Nunca mais. As malas. Depressa.
Ela tinha adormecido. Sua cabeça tinha deslizado ao longo das barras da cama. Parecia ter cinco anos a menos, com as bochechas ligeiramente intumescidas, o sorriso
quase imperceptível. Tinha adormecido como acontecia quando eu lia para ela a História da Inglaterra mas, dessa vez, ainda mais depressa do que escutando Maurois.
Eu a olhava, sentado na borda da janela. Soltavam fogos de artificio em algum lugar.
Comecei a arrumar as malas. Eu tinha apagado todas as
138
luzes do quarto para não acordá-la, exceto a da cabeceira. Ia pegando as coisas dela e as minhas nas prateleiras.
Alinhei nossas malas abertas no assoalho do "salão". Ela tinha seis, de tamanhos diferentes. Com as minhas, eram 9, sem contar o baú. Juntei meus velhos jornais
e minhas roupas, mas as coisas dela era mais difícil arrumar e eu descobria um novo vestido, um vidro de perfume ou uma pilha de lenços quando achava que tinha
acabado tudo. O cachorro, sentado no sofá, acompanhava minhas idas e vindas com um olho atento.
Eu não tinha mais força para fechar aquelas malas e desabei numa cadeira. O cachorro tinha pousado o queixo na borda do sofá e me observava dali debaixo. Encaramos
demoradamente um ao outro no branco dos olhos.
O dia estava chegando e uma leve lembrança me veio. Quando tinha eu vivido momento parecido? Eu revia os móveis da décima sexta ou da décima sétima circunscrição
- rua Colonel-Moll, praça Villaret-de-Joyeuse, avenida GénéralBalfourier - onde as paredes tinham o mesmo papel que os quartos do Hermitage, onde as cadeiras e
camas lançavam a mesma desolação ao coração. Ternos lugares, pousos precários, que é sempre preciso evacuar antes que cheguem os alemães e que não guardam qualquer
vestígio seu.
Foi ela quem me acordou. Examinava, de boca aberta, as malas prestes a estourar.
- Por que você fez isso? Sentou-se sobre a mais gorda, de couro grená. Parecia exausta, como se tivesse me ajudado a fazer as malas durante toda a noite. Estava
com a saída de praia entreaberta nos seios.
Então, de novo, em voz baixa, falei da América. Surpreendi-me a escandir as frases e aquilo tornava-se uma melopéia.
Como argumento, contei a ela que o próprio Maurois, o escritor que ela admirava, tinha partido em 40 para a América. Maurois.
139
Maurois. Ela sacudiu a cabeça e me sorriu amavelmente. Estava de acordo. Partiríamos o mais depressa possível. Ela não queria me contrariar. Mas eu devia descansar.
Passou a mão em minha testa.
Eu tinha ainda tantos pequenos detalhes a considerar. Por exemplo, o visto do cachorro.
Ela me escutava sorrindo, sem se mexer. Falei durante horas e horas, e voltavam sempre as mesmas palavras: Algonquin, Brooklyn, companhia geral transatlântica,
Zukor, Goldwyn, Warner Bros, Bella Darvi... Ela ouviu, paciência.
- Você devia dormir um pouco - repetia de vez em quando.
Eu estava esperando. O que é que ela podia estar fazendo? Tinha me prometido estar na estação uma meia hora antes da chegada do expresso para Paris. Assim não
correríamos o risco de perdê-lo. Mas ele acabava de partir outra vez. E eu permanecia de pé, acompanhando o desfile cadenciado dos vagões. Atrás de mim, em volta
de um dos bancos, minhas malas e meu baú estavam dispostos em meio círculo, o baú em posição vertical. Uma luz seca desenhava sombras sobre a plataforma. E eu
sentia aquela impressão de vazio e de estupidez que sucede à passagem de um trem.
No fundo, eu estava ali esperando por mim. Teria sido incrível se as coisas tivessem acontecido de outro modo. Contemplei de novo minha bagagem. Trezentos ou quatrocentos
quilos que eu sempre carregava comigo. Por quê? Com esse pensamento, fui sacudido por uma gargalhada ácida.
O próximo trem viria à meia-noite e seis. Eu tinha mais de uma hora pela frente e saí da estação, deixando minha bagagem na plataforma. Seu conteúdo não interessaria
a ninguém. Além disso, era muito pesada para se deslocar.
Entrei no café em rotunda, ao lado do hotel de Verdun. Ele
140
se chamava dos Cadrans ou do Avenir? Jogadores de xadrez ocupavam as mesas do fundo. Uma porta de madeira marrom se abria para um salão de bilhar. O café era iluminado
por tubos de néon rosa vacilante. Eu ouvia a batida das bolas de bilhar a intervalos muito longos e a saraivada contínua do néon. Nada mais. Nem uma palavra.
Nem um suspiro. Foi em voz baixa que eu pedi uma infusão com hortelã.
De repente, a América me pareceu bastante distante. Albert, o pai de Yvonne, vinha aqui jogar bilhar? Gostaria de saber. Um torpor me tomava e reencontrei naquele
café a calma que tinha conhecido em casa da senhora Buffaz, nos Tilleuls. Por um fenômeno de alternância ou de ciclotimia, um sonho sucedia outro: eu já não me
imaginava com Yvonne na América, mas numa pequena cidade de província que se parecia estranhamente com Bayonne. Sim, morávamos na rua Thiers e nas noites de verão
íamos passear sob as arcadas do teatro ao longo das aléias Boufflers. Yvonne me dava o braço e ouvíamos a batida de bolas de tênis. No domingo à tarde, fazíamos
a volta das muralhas e nos sentávamos sobre um banco do jardim público, perto do busto de Léon Bonnat. Bayonne, cidade de repouso e de doçura, depois de tantos
anos de incerteza. Talvez não fosse tarde demais. Bayonne...
Eu a procurei por toda parte. Tentei achá-la na Sainte-Rose entre as inúmeras pessoas que jantavam e todas as que dançavam. Era uma noite que fazia parte do programa
de festividades da estação: a Noite Cintilante, acho. Sim, cintilante. Em jatos curtos, os confetes inundavam as cabeleiras e espáduas.
Na mesma mesa que ocupavam na noite da taça, reconheci Fossorié, os Roland-Michel, a mulher morena, o diretor do clube de golfe e as duas louras bronzeadas. Em
suma, não saíam do lugar há um mês. Só o penteado de Fossorié tinha mudado: uma primeira onda com brilhantina formava uma espécie de diadema em torno da testa.
Atrás, um buraco. E outra onda, muito ampla, passava bem em cima do crânio e caía em cascata
141
sobre a nuca. Não, eu não sonhava. Eles se levantam e andam para a pista de dança. A orquestra toca um paso doble. Eles se misturam aos outros dançarinos, lá,
sob a chuva de confetes. E aquilo tudo vira e volta em turbilhão e depois se dispersa em minha lembrança. Poeiras.
Uma mão sobre meu ombro. O gerente da casa, o tal Pulli. - Está procurando alguém, senhor Chmara? Ele fala cochichando no meu ouvido.
- Senhorita Jacquet... Yvonne Jacquet... Pronunciei esse nome sem grande esperança. Ele não deve saber de quem é. Tantas caras... Os clientes se sucedem noite
após noite. Se eu mostrasse uma fotografia, a reconheceria, com certeza. É preciso ter sempre consigo fotografias daqueles a quem se ama.
- Senhorita Jacquet? Acaba de sair na companhia do senhor Daniel Hendrickx...
- O senhor acha? Devo ter feito uma cara engraçada, inflando as bochechas, como uma criança a ponto de chorar, porque ele me segurou pelo braço.
- Claro que sim. Na companhia do senhor Daniel Hendrickx.
Ele não dizia "com", mas "na companhia de" e identifiquei nisso um preciosismo de linguagem comum na alta sociedade do Cairo e de Alexandria, quando o francês lá
era de rigor.
- Tomamos um drinque? - Não, tenho que pegar um trem à meia-noite e seis.
- Pois bem, acompanho o senhor à estação, Chmara. Ele me puxa pela manga. Mostra-se familiar, mas também respeitoso. Atravessamos a turba de dançarinos. Ainda
o paso doble. Os confetes agora caem em chuva contínua e me cegam. Eles riem, mexem-se muito a minha volta. Eu me apóio contra Fossorié. Uma das louras bronzeadas,
a que se chama Meg Devillers, pula em meu pescoço:
- Oh, o senhor... o senhor... o senhor... Ela não quer mais me largar. Arrasto-a dois ou três metros.
142
Consigo afinal me livrar. Voltamos a nos encontrar, Pulli e eu, no início da escada. Nossos cabelos e nossos casacos estão crivados de confetes.
- É a Noite Cintilante, Chmara. Ele dá de ombros. Seu carro está estacionado na frente da Sainte-Rose, no meio-fio da estrada do lago. Um Simca Chambord cuja
porta me abre cerimoniosamente.
- Entre neste calhambeque. Ele não dá logo a partida. - Eu tinha um conversível grande no Cairo. E ao léu: - Suas malas, Chmara? - Estão na estação. Rodávamos
há alguns minutos, quando perguntou: - Qual o seu destino? Não respondi. Ele diminuiu a marcha. Não passávamos dos trinta quilômetros por hora. Virou-se para
mim:
- ... As viagens... Permanecia em silêncio. Eu também. - É preciso afinal fixar-se em algum lugar, acabou dizendo. Ai de mim...
Contornávamos o lago. Olhei uma última vez as luzes, as do Veyrier bem na frente, a massa sombria de Carabacel no horizonte, diante de nós. Apertei os olhos para
ver a passagem do funicular. Mas não. Estávamos longe demais.
- O senhor vai voltar aqui, Chmara? - Não sei. - O senhor tem sorte de ir embora. Ah, essas montanhas... Designava a cadeia de Aravis, na distância, que estava
visível ao clarão da lua.
- Sempre se acha que vão lhe cair por cima. Eu me sinto sufocado, Chmara.
Essa confidência vinha diretamente do coração. Emocionou-me, mas eu não tinha força para consolá-lo. Ele era mais velho que eu, afinal.
143
Entramos na cidade seguindo a avenida Maréchal-Leclerc. Nas proximidades, a casa natal de Yvonne. Pulli dirigia perigosamente à esquerda, como os ingleses, mas
por sorte não havia trânsito no outro sentido.
- Estamos adiantados, Chmara. Ele tinha parado o Chambord na praça da Estação, na frente do hotel de Verdun.
Atravessamos o saguão deserto. Pulli nem precisou pegar um tíquete de plataforma. A bagagem continuava no mesmo lugar.
Sentamo-nos no banco. Mais ninguém, além de nós. O silêncio, a tepidez do ar, a iluminação tinham algo de tropical.
- É engraçado - constatou Pulli -, parece que estamos numa estaçãozinha de Ramleh...
Ele me ofereceu um cigarro. Fumamos gravemente, sem nada dizer. Acredito que cheguei a fazer, como desafio, umas argolas de fumaça.
- A senhorita Yvonne Jacquet saiu mesmo com o senhor Daniel Hendrickx? - perguntei numa voz calma.
- Saiu, mas por quê? Ele alisou o bigode preto. Suspeitei de que queria me dizer algo muito sentido e decisivo, mas não saiu. Sua testa se enrugava. Gotas de suor
com certeza lhe iriam correr pelas têmporas. Consultou seu relógio. Meia-noite e dois. Então, num esforço:
- Eu podia ser seu pai, Chmara... Escute-me... O senhor tem a vida pela frente... E preciso ter coragem...
Ele virava a cabeça para a esquerda, para a direita, para ver se o trem chegava.
- Eu mesmo, na minha idade... Evito olhar para o passado... Tento esquecer o Egito...
O trem entrava na estação. Ele o acompanhava com os olhos. Hipnotizado.
Quis me ajudar a subir a bagagem. Ia me passando as malas e eu as arrumava no corredor do vagão. Uma. Depois duas. Depois três.
144
Tivemos muita dificuldade com o baú. Ele deve ter distendido um músculo levantando e empurrando-o na minha direção, mas fazia aquilo com uma espécie de frenesi.
O empregado bateu as portinholas. Desci o vidro e me debrucei para fora. Pulli me sorriu.
- Não esqueça o Egito e boa sorte, old sport... Essas duas palavras em inglês em sua boca me surpreenderam. Ele agitava o braço. O trem se sacudia. Ele se deu conta
de repente de que tínhamos esquecido uma de minhas malas, de forma circular, perto do banco. Levantou-a, pôs-se a correr. Tentava alcançar o vagão. Afinal parou,
ofegante, e fez para mim um largo gesto de impotência. Estava com a mala na mão e se mantinha muito ereto debaixo das luzes da plataforma. Dirse-ia uma sentinela
que diminuía, diminuía. Um soldado de chumbo.
Uma pequena cidade da província francesa, à beira de um lago e próxima à Suíça.
É nessa estação de termas que, aos 18 anos, o narrador, um apátrida, veio se refugiar, para escapar de uma ameaça que sentia pairar a sua volta e combater osentimento de insegurança e pânico. Medo de uma guerra, de catástrofe iminente? Medo do mundo exterior? Ele se escondia, pois, no início daquele mês de julho, em meio a uma multidão de veranistas, quando conheceu dois seres de aparência misteriosa que o iriam arrastar.
Vila triste é a evocação, pelo narrador, daquele verão de quase 15 anos atrás e das figuras de Yvonne Jacquet e René Meinthe, em torno das quais passam, como pirilampos, Daniel Hendrickx, Pulli, Fossorié, Rolf Madéja e muitos outros. Ele tenta fazer reviver os rostos, a fragilidade dos instantes, as atmosferas daquela estação já distante. Mas tudo desfila e se desvela como se visto através do vidro de um trem, como a lembrança de uma miragem e de um cenário de papelão, perpassados por uma música em que se entrecruzam diversos temas: o desarraigado que em vão busca ligações, o tempo que passa e a juventude perdida.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VILA_TRISTE.jpg
I
Eles destruíram o hotel de Verdun. Era um prédio curioso, diante da estação, orlado por uma varanda cuja madeira apodrecia. Comerciantes em viagem vinham dormir
ali entre dois trens. Tinha a reputação de um hotel de passagem. O café vizinho, em forma de rotunda, também desapareceu. Chamava-se café dos Cadrans ou do Avenir?
Entre a estação e os gramados da praça Albert I havia agora um grande vazio.
A rua Royale, em si, não mudou, mas por causa do inverno e da hora tardia, tem-se a impressão, ao percorrê-la, de se atravessar uma cidade morta. Vitrines da livraria
Chez Clément Marot, de Horowitz, o joalheiro, Deauville, Genève, Le Touquet e da confeitaria inglesa Fidel-Berger... Mais longe, o salão de cabeleireiros René
Pigault. Vitrines de Henry à la Pensée. A maioria dessas lojas de luxo fecha fora da estação. Quando começam as arcadas, se vê brilhar, no fundo, à esquerda, o
néon vermelho e verde do Cintra. Na calçada oposta, na esquina da rua Royale e da praça do Pâquier, a Taverne, que a juventude freqüentava durante o verão. Ainda
é a mesma clientela hoje?
Nada mais resta do grande café, de seus lustres, de seus espelhos e das mesas com guarda-sóis que transbordavam pela calçada. Em torno de oito horas da noite,
eram idas e vindas de
mesa em mesa, grupos que se formavam. Gargalhadas. Cabelos louros. Tilintar de copos. Chapéus de palha. De vez em quando uma saída de praia acrescentava sua nota
sarapintada. Preparavam-se as festividades da noite.
À direita, lá embaixo, o Casino, uma construção branca e compacta, que só abre de junho a setembro. No inverno, a burguesia local joga bridge duas vezes por semana
na sala de bacará e o grill-room serve de local de reunião do Rotary Club da província. Atrás, o parque de Albigny desce num suave declive até o lago com seus
salgueiros-chorões, seu quiosque com música e o embarcadouro onde se toma o barco vetusto que faz ida-evolta entre as pequenas localidades à beira da água: Veyrier,
Chavoires, Saint-Jorioz, Éden-Roc, Port-Lusatz... Enumerações demais. Mas é preciso cantarolar certas palavras, incansavelmente, como cantiga de ninar.
Segue-se a avenida de Albigny, orlada de plátanos. Ela acompanha o lago e no momento em que se curva para a direita, distingue-se um portão de madeira branca: a
entrada do Sporting. De cada lado de uma aléia de cascalho, diversas quadras de tênis. Em seguida, basta fechar os olhos para lembrar da longa fileira de cabines
e da praia de areia que se estende por cerca de trezentos metros. No plano de fundo, um jardim inglês em torno do bar e do restaurante do Sporting, instalados
num antigo laranjal. Aquilo tudo forma quase uma ilha, que por volta de 1900 pertencia ao fabricante de automóveis GordonGramme.
Na altura do Sporting, do outro lado da avenida de Albigny, começa o bulevar Carabacel. Ele sobe, num cordão, até os hotéis Hermitage, Windsor e Alhambra, mas se
pode também pegar o funicular. No verão, funciona até meia-noite e se espera por ele numa pequena estação que tem o aspecto exterior de um chalé. Aqui, a vegetação
é mista e já não sabemos se estamos nos Alpes, na borda do Mediterrâneo ou mesmo nos trópicos. Pinheiros guarda-sóis. Mimosas. Abetos. Palmeiras. Seguindo o bulevar
pelo flanco da colina, descobre-se o panorama: o lago
10
inteiro, a cadeia de Aravis e, do outro lado da água, aquele país fugidio que se chama Suíça.
O Hermitage e o Windsor abrigam apenas apartamentos mobiliados. Não destruíram, porém, a porta rotativa do Windsor e a vidraça que prolongava o saguão do Hermitage.
Lembrem-se: ela era tomada de buganvílias. O Windsor datava dos anos 1910 e sua fachada branca tinha o mesmo aspecto de merengue que as do Ruhl e do Negresco em
Nice. O Hermitage, de cor ocre, era mais sóbrio e mais majestoso. Lembrava o hotel Royal de Deauville. Sim, como um irmão gêmeo. Foram mesmo convertidos em apartamentos?
Luz alguma nas janelas. Seria preciso ter a coragem de atravessar os saguões escuros e galgar as escadarias. Talvez então se percebesse que ninguém mora aqui.
O Alhambra, esse, foi arrasado. Mais nenhum vestígio dos jardins que o cercavam. Eles vão, com certeza, construir um hotel moderno em seu lugar. Um breve esforço
de memória: no verão, os jardins do Hermitage, do Windsor e do Alhambra muito se aproximavam da imagem que se pode ter do éden perdido ou da terra prometida.
Mas em qual dos três havia aquele imenso canteiro de dálias e aquela balaustrada onde as pessoas se apoiavam para olhar o lago, lá embaixo? Pouco importa. Teremos
sido as últimas testemunhas de um mundo.
É muito tarde, inverno. Distingue-se mal, do outro lado do lago, as luzes molhadas da Suíça. Da vegetação luxuriante de Carabacel, restam apenas algumas árvores
mortas e tufos mirrados. As fachadas do Windsor e do Hermitage estão negras e como que calcinadas. A cidade perdeu seu verniz cosmopolita e veranil. Reduziu-se
às dimensões de uma capital de província. Uma cidadezinha escondida no fundo da província francesa. O tabelião e o subprefeito jogam bridge no Casino desativado.
Madame Pigault igualmente, a diretora do salão de cabeleireiros, quarentona loura e perfumada de Shocking. Ao lado dela, Fournier filho, cuja família tem três fábricas
de têxteis em Faverges, e Servoz, dos laboratórios farmacêuticos de Chambéry, excelente jogador de golfe. Parece que a senhora Servoz, morena
como a senhora Pigault é loura, circula sempre ao volante de uma BMW entre Genebra e sua vila em Chavoires, e gosta muito de gente nova. É freqüentemente vista
com Pimpin Lavorel. E poderíamos dar mil outros detalhes igualmente insípidos, igualmente constrangedores sobre a vida cotidiana dessa pequena cidade, porque as
coisas e as pessoas com certeza não mudaram em 12 anos.
Os cafés estão fechados. Uma luz cor-de-rosa se filtra através da porta do Cintra. Querem que entremos para verificar se os lambris de acaju não mudaram, se a lâmpada
do abajur escocês está no lugar, do lado esquerdo do bar? Não retiraram as fotografias de Émile Allais, tiradas em Engelberg quando ele trouxe o campeonato mundial.
Nem as de James Couttet. Nem a foto de Daniel Hendrickx. Estão alinhadas por cima das filas de aperitivos. Amarelaram, é claro. E na semipenumbra, o único cliente,
um homem afogueado, usando um casaco xadrez, bolina distraidamente a garçonete. Ela tinha uma beleza ácida no início dos anos sessenta, mas depois, ficou pesada.
Ouve-se o barulho dos próprios passos na rua Sommeiller deserta. À esquerda, o cinema Régent continua idêntico a si mesmo: sempre esse reboco cor de laranja e
as letras Régent em caracteres ingleses de cor granada. Eles deviam pelo menos modernizar a sala, mudar as poltronas de madeira e os retratos Harcourt das vedetes
que decoravam a entrada. A praça da Estação é o único local da cidade onde brilham algumas luzes e onde ainda reina um pouco de animação. O expresso para Paris
passa à meia-noite e seis. Os soldados em licença da caserna Berthollet chegam em pequenos grupos ruidosos, com a mala de metal ou papelão na mão. Alguns cantam
Meu belo pinheiro: a aproximação do Natal, sem dúvida. Na plataforma n22 eles se aglutinam, se dão tapas nas costas. Dir-se-ia que partem para ofront. Em meio
a todos aqueles capotes militares, um terno civil de cor bege. O homem que o veste não parece padecer de frio; tem em volta do pescoço um lenço de seda verde,
que aperta com a mão nervosa. Ele vai de grupo em grupo,
12
vira a cabeça da esquerda para a direita com uma expressão esgazeada, como se procurasse um rosto no meio daquela multidão. Ele acaba de interrogar um militar,
mas este e seus dois companheiros o inspecionam dos pés à cabeça, zombeteiros. Outros soldados se voltaram e assobiam a sua passagem. Ele finge não prestar atenção
alguma e mordisca uma piteira. Agora, encontra-se à parte, em companhia de um jovem caçador alpino todo louro. Este parece aborrecido e de vez em quando lança
olhares
furtivos a seus camaradas. O outro se apóia sobre seu ombro e lhe sussurra alguma coisa ao ouvido. O jovem caçador alpino tenta libertar-se. Então, ele lhe passa
um envelope para o bolso do casacão, olha-o sem nada dizer e, como começa a nevar, levanta a gola do casaco.
Esse homem se chama René Meinthe. Leva bruscamente a mão esquerda à testa, e lá a deixa, feito viseira, gesto que lhe era familiar, há 12 anos. Como envelheceu...
O trem chegou à estação. Eles entram de assalto, acotovelam-se pelos corredores, descem os vidros, passam as malas. Alguns cantam É apenas um adeus..., mas a maioria
prefere urrar Meu belo pinheiro... Neva mais forte. Meinthe se mantém de pé, imóvel, com a mão na testa. O jovem lourinho, detrás do vidro, examina-o com um sorriso
um tanto mau no canto dos lábios. Toca no boné de caçador alpino. Meinthe lhe faz um sinal. Os vagões desfilam levando as pencas de militares a cantar e agitar
os braços.
Ele afundou as mãos nos bolsos do casaco e se dirige para o restaurante da estação. Os dois garçons arrumam as mesas e varrem à volta delas com largos gestos indolentes.
No bar, um homem de impermeável arruma os últimos copos. Meinthe pede um conhaque. O homem lhe responde num tom seco que não está mais servindo. Meinthe pede
de novo um conhaque.
- Aqui - responde o homem, arrastando as sílabas - não servimos bichas.
E os outros dois, atrás, caíram na gargalhada. Meinthe não se mexe, fixa um ponto diante de si, com ar cansado. Um dos
13
garçons apagou os apliques da parede esquerda. Resta somente uma zona de luz amarelada, em volta do bar. Eles esperam de braços cruzados. Vão quebrar a cara dele?
Quem sabe? Talvez Meinthe vá bater com a palma da mão no balcão gorduroso e gritar: " Sou a rainha Astrid, a RAINHA DOS BELGAS!", com a inclinação e o riso insolente
de outrora.
O que fazia eu aos 18 anos à beira desse lago, nessa famosa estação termal. Nada. Morava numa pensão familiar, dos Tilleuls, no bulevar Carabacel. Eu poderia ter
escolhido um quarto na cidade, mas preferia me ver nas alturas, a dois passos do Windsor, do Hermitage e do Alhambra, cujo luxo e densos jardins me davam segurança.
Eu morria de medo, sentimento que depois nunca me deixou; mas era bem mais vivo e irracional naquela época. Eu tinha fugido de Paris com a idéia de que aquela cidade
tornavase perigosa para pessoas como eu. Lá reinava um ambiente policial desagradável. Ataques demais para meu gosto. Bombas explodiam. Eu gostaria de dar uma precisão
cronológica e, uma vez que os melhores pontos de referência são as guerras, de que guerra, de fato, se tratava? Da que se chamava Argélia, bem no início dos anos
sessenta, época em que se andava de carro conversível na Flórida e as mulheres se vestiam mal. Os homens também. Eu, tinha medo, mais ainda do que hoje e tinha
escolhido esse lugar como refúgio porque estava situado a cinco quilômetros da Suíça. Bastava atravessar o lago, ao menor alarme. Em minha ingenuidade, eu acreditava
que quanto mais a gente se aproxima da Suíça mais chances tem de escapar. Eu ainda não sabia que a Suíça não existe.
A "estação" tinha começado em 15 de junho. As galas e festividades iam se suceder. Jantar dos "Embaixadores" no Casino. Turnê de canto de Georges Ulmer. Três apresentações
de Escutem bem, senhores. Fogos de artificio no 14 de julho, lançados do golfo de Chavoires, balés do marquês de Cuevas e outras coisas ainda que me retornariam
à memória se eu tivesse à mão o programa editado pelo departamento de turismo. Conservei-o e estou certo de tê-lo encontrado entre as páginas de um dos livros
que li este ano. Qual? Fazia um tempo "soberbo" e os freqüentadores previam sol até outubro.
Só muito raramente eu ia tomar banho. Em geral, passava meus dias no saguão e nos jardins do Windsor e acabava me convencendo de que ali, pelo menos, não me expunha
a risco algum. Quando o pânico me tomava - uma flor que abria lentamente suas pétalas, um pouco acima do umbigo - eu olhava a minha frente, para o outro lado do
lago. Dos jardins do Windsor, percebia-se um vilarejo. Cinco quilômetros, se tanto, em linha reta. Poder-se-ia vencer essa distância a nado. À noite, com uma
pequena lancha a motor, levaria uns vinte minutos. Mas é claro. Eu tentava me acalmar. Cochichava, articulando as sílabas: "À noite, com uma pequena lancha a motor..."
Ficava tudo melhor, eu retomava a leitura de meu romance ou de uma revista inofensiva (tinha me proibido de ler jornais e ouvir noticiários no rádio. Toda vez que
ia ao cinema, tinha o cuidado de chegar depois das Atualidades). Não, acima de tudo, nada saber sobre a sorte do mundo. Não agravar esse medo, esse sentimento de
catástrofe iminente. Interessar-se apenas pelas coisas anódinas: moda, literatura, cinema, music-hall. Esticar-se nas grandes espreguiçadeiras, fechar os olhos,
relaxar, acima de tudo relaxar. Esquecer.
Por volta do fim da tarde, eu descia à cidade. Avenida de Albigny, sentava-me num banco e acompanhava a agitação à borda do lago, o tráfego dos pequenos veleiros
e pedalinhos. Era reconfortante. Por cima, as folhas dos plátanos me protegiam. Eu seguia meu caminho a passos lentos e precavidos. Praça
16
do Pâquier, sempre escolhia uma mesa recuada na varanda da Taverne e pedia sempre Campari com soda. E contemplava toda aquela juventude a minha volta, à qual,
aliás, eu pertencia. Eram em número cada vez maior, à medida que a hora passava. Ainda escuto seus risos, lembro os topetes jogados nos olhos. As meninas usavam
calças pescador e shorts de vichy. Os meninos não desprezavam o blazer com escudo e o colarinho da camisa aberto com um lenço. Usavam cabelo curto, o chamado corte
"Rond-Point". Preparavam suas festas. As meninas chegavam com vestidos apertados na cintura, muito rodados, e sapatilhas. Esperta e romântica juventude que mandariam
para a Argélia. Eu não.
Às oito horas, eu voltava para jantar na casa dos Tilleuls. Aquela pensão familiar, cujo exterior, em minha opinião, lembrava um pavilhão de caça, recebia, todo
verão, uma dezena de freqüentadores. Todos eles tinham ultrapassado os sessenta e minha presença, inicialmente, os irritava. Mas eu respirava muito discretamente.
Com uma grande economia de gestos, um olhar voluntariamente terno, um rosto congelado - bater o menos possível as pálpebras - esforçava-me para não agravar uma
situação já precária. Eles perceberam minha boa vontade e acho que acabaram me vendo com melhores olhos.
Fazíamos as refeições numa sala de jantar em estilo saboiano. Eu teria podido iniciar uma conversa com meus vizinhos mais próximos, um velho casal bem cuidado que
vinha de Paris, mas por certas alusões, achei ter escutado que o homem era ex-inspetor de polícia. Os outros jantavam também aos casais, exceto um senhor de bigode
fino e cara de cocker spaniel, que dava a impressão de ter sido abandonado ali. Pelo zunzum das conversas, eu o escutava às vezes soltar breves soluços que pareciam
latidos. Os hóspedes passavam para o salão e se sentavam suspirando nas poltronas estofadas de cretone. A senhora Buffaz, proprietária dos Tilleuls, servia uma infusão
ou um digestivo qualquer. As mulheres falavam entre si. Os homens jogavam uma partida de canastra. O senhor com cara de
17
cachorro acompanhava a partida, sentado recuadamente, depois de ter tristemente acendido um havana.
E eu ficaria de boa vontade ali com eles, na luz doce e tranqüilizante das lâmpadas do abajur de seda rosa-salmão, mas teria sido necessário lhes falar ou jogar
canastra. Será que aceitariam que eu estivesse lá, sem nada dizer, olhando-os? Eu descia outra vez à cidade. Às nove horas e 15 minutos, precisamente - logo depois
das Atualidades - entrava na sala do cinema Régent ou então optava pelo cinema do Casino, mais elegante e mais confortável. Encontrei um programa do Régent que
data daquele verão.
CINEMA RÉGENT
De 15 a 23 de junho: Terna e violenta Elisabeth de H. Decoin De 24 a 30 de junho: Ano passado em Marienbad de A. Resnais De 12 a 8 de julho: R.P.Z. chama Berlim
de R. Habib De 9 a 16 de julho: O testamento de Orfeu de J. Cocteau De 17 a 24 de julho: O capitão Bamba de P. Gaspard-Huit De 25 de julho a 2 agosto: Quem
é o senhor, Sorge? de Y. Ciampi De 3 a 10 de agosto: A noite de M. Antonioni De lia 18 de agosto: O mundo de Suzie Wong De 19 a 26 de agosto: O círculo vicioso
de M Pecas De 27 de agosto a 3 de setembro: O bosque dos amantes de C. Autant-Lara.
Eu reveria de bom grado algumas cenas desses velhos filmes.
Depois do cinema, ia de novo beber um Campari na Taverne. Os jovens já tinham desertado. Meia-noite. Deviam estar dançando em algum lugar. Eu observava aquelas
cadeiras todas, as mesas vazias e os garçons que punham para dentro os guarda-sóis. Fixava o grande jato d'água luminoso do outro lado da praça, diante da entrada
do Casino. Ele mudava de cor sem cessar. Eu me divertia contando quantas vezes virava verde. Um passatempo, como outro qualquer, não é ? Uma vez, duas vezes,
três vezes. Quando chegava ao número 53, eu me levantava. Mas, na maior parte das vezes, nem me dava o trabalho de fazer essa brincadeira. Eu cismava, bebendo pequenos
goles mecânicos. Lembram-se de Lisboa durante a guerra? Todos aqueles sujeitos abatidos nos bares e no saguão do hotel Aviz, com malas e baús, esperando um navio
que não viria? Pois bem, eu tinha a impressão, vinte anos depois, de ser um deles.
As raras vezes em que usava meu terno de flanela e minha única gravata (gravata azul-noite semeada de flores-de-lis que um americano me deu em cujo avesso estavam
bordadas as palavras "International Bar Fly". Fiquei sabendo mais tarde que se tratava de uma sociedade secreta de alcoólatras. Graças a essa gravata podiam reconhecer
uns aos outros e prestar pequenos favores), acontecia de eu entrar no Casino e ficar alguns minutos no umbral do Brummel para ver o pessoal dançando. Eles tinham
entre trinta e sessenta anos, e se notava, às vezes, uma menina mais nova em companhia de um esbelto qüinquagenário. Clientela internacional, bastante "chique"
e que ondulava com os sucessos italianos ou acordes do calipso, aquela dança da Jamaica. Em seguida, eu subia até o salão de jogos. Às vezes assistíamos a grandes
apostas. Os jogadores mais faustosos vinham da Suíça tão próxima. Lembro-me de um egípcio muito tenso, de cabelo ruivo lustroso e olhos de gazela, que acariciava
pensativamente com o indicador seu bigode de major inglês. Ele jogava fichas de cinco milhões e diziam-no primo do rei Faruk.
19
Sentia alívio de me encontrar outra vez ao ar livre. Voltava lentamente na direção de Carabacel pela avenida de Albigny. Nunca tinha visto noites tão belas, tão
límpidas, como naquela época. As luzes das vilas à beira do lago tinham uma cintilação que ofuscava os olhos e nelas eu ouvia alguma coisa de musical, um solo
de saxofone ou de trumpete. Eu percebia também, muito leve, imaterial, o farfalhar dos plátanos da avenida. Esperava o último funicular sentado no banco de ferro
do chalé. A sala era iluminada apenas por uma vigia e eu me permitia deslizar, com uma sensação de confiança total, para dentro daquela penumbra violácea. O que
eu podia temer? O ruído das guerras, o fragor do mundo, para chegar até aquele oásis de férias, tinham que atravessar uma parede acolchoada. E quem teria a idéia
de vir me procurar entre os distintos veranistas?
Eu descia na primeira estação: Saint-Charles-Carabacel e o funicular continuava subindo, vazio. Parecia um verme gordo brilhante.
Eu atravessava o corredor dos Tilleuls na ponta dos pés, depois de ter tirado os mocassins, pois os velhos têm o sono leve.
20
Ela estava sentada no saguão do Hermitage, num dos grandes sofás do fundo e não tirava os olhos da porta rotativa, como se esperasse por alguém. Eu ocupava uma
poltrona a dois ou três metros dela, e a via de perfil.
Cabelo acobreado. Vestido de xantungue verde. E os sapatos de salto agulha que as mulheres usavam. Brancos.
Um cachorro estava deitado aos pés dela. Ele bocejava e se espreguiçava de vez em quando. Um dogue alemão, imenso e linfático com manchas pretas e brancas. Verde,
ruivo, branco, preto. Essa combinação de cores me causava uma espécie de entorpecimento. Como fiz para me ver ao lado dela, no sofá? Quem sabe o dogue alemão
tenha servido de intermediário, ao vir, em seu andar preguiçoso, cheirar-me?
Reparei que ela tinha os olhos verdes, manchas muito ligeiras de rubor e que era um pouco mais velha do que eu.
Passeamos naquela manhã nos jardins do hotel. O cachorro abria o cortejo. Seguíamos uma aléia recoberta por uma cúpula de clematites com grandes flores cor de malva
e azuis. Eu afastava as folhagens em cachos dos cítisos; bordejávamos gramados e moitas de alfena. Havia - se minha memória for boa - plantas de pedrinhas em tons
de geada, espinheiros cor-de-
21
rosa, uma escada ladeada de bacias vazias. E o imenso canteiro de dálias amarelas, vermelhas e brancas. Debruçamo-nos na balaustrada e olhamos o lago, embaixo.
Nunca pude saber exatamente o que ela tinha pensado de mim durante esse primeiro encontro. Talvez me tenha tomado por um rapaz de família milionário que se entediava.
O que a divertiu, em todo caso, foi o monóculo que eu usava no olho direito para ler, não por dandismo ou afetação, mas porque eu via muito menos com esse olho
que com o outro.
Não falamos. Ouço o murmúrio de um esguicho d'água que gira, no meio do gramado mais próximo. Alguém desce a escada em nosso encalço, um homem, cujo terno amarelo
pálido distingui de longe. Ele nos faz um aceno com a mão. Está de óculos escuros e enxuga a testa. Ela me apresenta a ele pelo nome de René Meinthe. Ele logo
retifica: "doutor Meinthe", ressaltando as duas sílabas da palavra doutor. E afeta um sorriso. Devo me apresentar, por minha vez: Victor Chmara. É o nome que escolhi
para preencher minha ficha de hotel em casa dos Tilleuls.
- O senhor é amigo da Yvonne? Ela responde que acaba de me conhecer no saguão do Hermitage e que leio com monóculo. Decididamente, isso muito a diverte. Ela me
pede que eu ponha o monóculo para mostrálo ao doutor Meinthe. Faço-o. "Muito bem", diz Meinthe, balançando a cabeça com ar pensativo.
Então ela se chamava Yvonne. Mas e o sobrenome? Esqueci. Bastam, portanto, 12 anos, para a gente esquecer o estado civil das pessoas que foram importantes em nossa
vida. Era um nome suave, muito francês, algo parecido com Coudreuse, Jacquet, Lebon, Mouraille, Vincent, Gerbault...
René Meinthe, à primeira vista, era mais velho do que nós. Em torno de trinta anos. De estatura mediana, tinha um rosto redondo e nervoso e os cabelos louros puxados
para trás.
22
Tornamos a ganhar o hotel atravessando uma parte do jardim que eu não conhecia. As aléias de cascalho eram aí retilíneas, os gramados simétricos e cortados à inglesa.
Em volta de cada um deles flutuavam platibandas de begônias ou gerânios. E sempre o doce, reconfortante murmúrio dos jatos d'água que regavam o canteiro. Pensei
nas Tulherias de minha infância. Meinthe nos propôs tomar um drinque e depois almoçar no Sporting.
Minha presença lhes parecia completamente natural e se poderia jurar que nos conhecíamos desde sempre. Ela me sorria. Falávamos de coisas insignificantes. Eles
não me faziam nenhuma pergunta, mas o cachorro punha a cabeça contra meus joelhos e me observava.
Ela se levantou dizendo que ia buscar um lenço no quarto. Então estava hospedada no Hermitage? O que fazia aqui? Quem era ela? Meinthe tinha tirado do bolso uma
piteira e mordiscava. Então notei que era cheio de tiques. A longos intervalos, a maçã esquerda do rosto crispava-se como se tentasse segurar um monóculo invisível,
mas os óculos escuros escondiam pela metade esse tremor. Às vezes esticava o queixo para a frente e poder-se-ia imaginar que estava provocando alguém. Por fim,
seu braço direito de vez em quando era sacudido por uma descarga elétrica que se comunicava à mão e esta traçava arabescos no ar. Todos esses tiques se coordenavam
entre si de uma maneira muito harmoniosa e conferiam a Meinthe uma elegância inquieta.
- O senhor está de férias? Eu respondi que sim. E tinha sorte de estar fazendo um tempo tão "ensolarado". E eu achava aquele lugar de férias "paradisíaco".
- É a primeira vez que o senhor vem? Não conhecia? Percebi uma ponta de ironia em sua voz e me permiti lhe perguntar por minha vez se ele próprio passava as férias
aqui. Ele hesitou.
- Oh, não exatamente. Mas conheço este lugar há muito
23
tempo... - Estendeu o braço casualmente na direção de um ponto no horizonte e, numa voz frouxa:
- As montanhas... O lago... O lago... Tirou os óculos escuros e pousou sobre mim um olhar doce e triste. Sorria.
- Yvonne é uma menina maravilhosa - disse ele. Ma-ra-vi-lho-sa.
Ela andava na direção de nossa mesa, com um lenço de musselina verde amarrado em volta do pescoço. Ela me sorria e não tirava os olhos de mim. Alguma coisa se
dilatava do lado esquerdo de meu peito, e decidi que aquele era o dia mais lindo de minha vida.
Entramos no automóvel de Meinthe, um velho Dodge creme, conversível. Sentamo-nos os três no banco da frente, Meinthe ao volante, Yvonne no meio e o cachorro atrás.
Ele deu a partida brutalmente, o Dodge derrapou no cascalho e quase esfolou o portão do hotel. Seguimos lentamente o bulevar Carabacel. Eu não escutava mais o
barulho do motor. Meinthe o tinha cortado para descer na banguela? Os pinheiros guardasóis. dos dois lados da estrada, cortavam os raios de sol e isso produzia
um jogo de luzes. Meinthe assobiava, eu me deixava embalar por um ligeiro balanço e a cabeça de Yvonne pousava a cada curva sobre meu ombro.
No Sporting, estávamos a sós na sala do restaurante, aquele antigo laranjal protegido do sol por um salgueiro-chorão e tufos de rododendros. Meinthe explicava
a Yvonne que tinha de ir a Genebra e voltaria à noite. Pensei que eram irmãos. Mas não. Não se pareciam nada.
Um grupo de umas 12 pessoas entrou. Escolheram a mesa vizinha a nossa. Vinham da praia. As mulheres vestiam marinheiras em tecido de espuma colorido, os homens,
roupões de banho. Um deles, mais alto e mais atlético do que os outros, com o cabelo louro ondulado, falava alto. Meinthe tirou os óculos
24
escuros. Ficou muito pálido, de repente. Apontou o louro alto com o dedo e uma voz superaguda, quase num assobio:
- Aí, lá está a Carlton... A maior POR-CA-LHO-NA da região...
O outro fez que não ouviu, mas seus amigos viraram-se para nós, de boca aberta.
Entendeu o que eu disse, a Carlton? Durante alguns segundos, fez-se um silêncio absoluto na sala do restaurante. O louro atlético estava de cabeça baixa. Seus
vizinhos, petrificados. Yvonne, ao contrário, não tinha se mexido, como se estivesse habituada a tais incidentes.
- Não tenha medo - sussurrou Meinthe, inclinando-se em minha direção -, não é nada, absolutamente nada...
Seu rosto tinha ficado liso, infantil, não se notava nem mais um tique. Retomamos a conversa e ele perguntou a Yvonne o que queria que ele lhe trouxesse de Genebra.
Chocolate? Cigarros turcos?
Ele nos deixou diante da entrada do Sporting, dizendo que poderíamos nos reencontrar por volta das nove horas da noite, no hotel. Yvonne e ele falaram de um tal
de Madeja (ou Madeya), que estava organizando uma festa, numa vila, à beira do lago.
- O senhor vem conosco, hein? - perguntou Meinthe. Eu o olhava caminhar em direção ao Dodge e ele avançava por meio de sucessivas sacudidelas elétricas. Ele deu
a partida, como da primeira vez, cantando pneu e, mais uma vez, o automóvel roçou o portão antes de desaparecer. Ele erguia o braço para nós, sem virar a cabeça.
Eu estava sozinho com Yvonne. Ela me propôs dar uma volta nos jardins do Casino. O cachorro andava na frente, cada vez mais mole. Às vezes, sentava-se no meio
da aléia e era preciso gritar seu nome, "Oswald", para que consentisse em seguir caminho. Ela me explicou que não era a preguiça, mas a
25
melancolia que lhe dava aquele ar casual. Ele pertencia a uma variedade muito rara de dogues alemães, todos tomados de uma tristeza e de um tédio vital congênitos.
Alguns chegavam a se suicidar. Eu quis saber por que tinha escolhido um cachorro de humor tão sombrio.
- Porque são mais elegantes que os outros - explicou ela com vivacidade.
Logo pensei na família dos Habsburgos, que tinha contado entre suas fileiras certos seres delicados e hipocondríacos como aquele cão. Punha-se aquilo na conta dos
casamentos consangüíneos e chamavam seu estado depressivo de "melancolia portuguesa".
- Esse cachorro - disse eu - sofre de "melancolia portuguesa". - Mas ela não ouviu.
Chegamos diante do embarcadouro. Umas dez pessoas subiam a bordo do Amiral-Guisand. Tiravam o passadiço. Apoiadas na rede de proteção, crianças agitavam as mãos,
gritando. O barco se distanciava e tinha um charme colonial e decaído.
- Uma tarde - disse Yvonne - teremos que andar nesse barco. Vai ser divertido, você não acha?
Ela me chamava de você pela primeira vez, e tinha dito essa frase com um entusiasmo inexplicável. Quem era ela? Eu não ousava perguntar.
Nós seguimos a avenida de Albigny e as folhagens dos plátanos nos ofereciam suas sombras. Estávamos sozinhos. O cão nos antecedia uns vinte metros. Ele já nada
tinha de sua languidez habitual, e andava de modo altivo, com a cabeça erguida, fazendo às vezes umas viradas bruscas e desenhando movimentos de quadrilha, à
maneira dos cavalos de carrossel.
Sentamo-nos à espera do funicular. Ela pousou a cabeça em meu ombro e eu experimentei a mesma vertigem que tinha sentido quando descíamos de carro o bulevar Carabacel.
Ainda a ouvir dizer: "Uma tarde... andar... barco... divertido, você não acha?", com seu sotaque indefinível, que eu me questionava se era húngaro, inglês ou
saboiano. O funicular subia lentamente e
26
a vegetação, dos dois lados da via, parecia cada vez mais densa. Ela ia nos engolir. Os cachos de flores se amassavam de encontro aos vidros e, de vez em quando,
uma rosa ou um galho de alfena era levado na passagem.
Em seu quarto, no Hermitage, a janela estava entreaberta e eu ouvia a batida regular das bolas de tênis, as exclamações distantes dos jogadores. Se ainda existiam
gentis e reconfortantes imbecis de roupa branca lançando bolas por cima de uma rede, isso queria dizer que a terra continuava girando e que tínhamos algumas horas
de prazo.
Sua pele estava semeada de manchas de rubor muito leves. Combatia-se na Argélia, ao que parecia.
A noite. E Meinthe que nos esperava no saguão. Vestia um terno de linho branco e um lenço turquesa impecavelmente amarrado em torno do pescoço. Ele tinha trazido
cigarros de Genebra e insistia que experimentássemos. Mas nós não tínhamos nem um instante a perder - dizia ele - senão estaríamos atrasados para a casa de Madeja
(ou Madeya).
Dessa vez, descemos com toda pressa o bulevar Carabacel. Meinthe, com a piteira nos lábios, acelerava nas curvas, e ignoro por que milagre chegamos sãos e salvos
à avenida de Albigny. Voltei-me para Yvonne e fiquei surpreso pois seu rosto não exprimia medo algum. Cheguei a ouvi-la rir num momento em que o automóvel deu
um giro.
Quem era esse Madeja (ou Madeya) a cuja casa estávamos indo? Meinthe me explicou que se tratava de um cineasta austríaco. Ele acabava de rodar um filme na região
- exatamente em La Clusaz - uma estação de esqui, a vinte quilômetros de distância, e Yvonne tinha atuado nele. Meu coração bateu.
- A senhora faz cinema? - perguntei a ela. Ela riu.
27
- Yvonne vai se tornar uma grande atriz - declarou Meinthe, apertando fundo o acelerador.
Ele falava a sério? A-triz de ci-ne-ma. Talvez eu já tivesse visto a fotografia dela na Cinémonde ou naquele Anuário do cinema, descoberto no fundo de uma velha
livraria de Genebra e que eu folheava durante minhas noites de insônia. Acabei gravando o nome e o endereço dos atores e "técnicos". Hoje alguns fragmentos me
vêm à memória:
JUNTE ASTOR: Fotografia Bernard e Vauclair. Rua BuenosAyres, 1- Paris - VIP.
SABINE GuY: Fotografia Teddy Piaz. Comédia - Turnê de canto - Dança.
Filmes: Os clandestinos..., Os velhinhos fazem a lei... Senhorita Catástrofe..., A polca das algemas... Bom dia, doutor etc.
GORDINE (FILMES SACHA): Rua Spontini, 19 - Paris - XVI KLE. 77-94. Sr. Sacha Gordine, GER.
Yvonne tinha um "nome de cinema" que eu conhecia? A minha pergunta, ela murmurou: "É um segredo" e pôs o indicador sobre os lábios. Meinthe acrescentou, com um
riso agudo inquietante:
- O senhor compreende, ela está aqui incógnita. Íamos pela estrada da beira do lago. Meinthe tinha diminuído a marcha e ligado o rádio. O ar estava quente e deslizávamos
através de uma noite sedosa e clara como jamais vi depois, exceto no Egito ou na Flórida de meus sonhos. O cachorro tinha apoiado o queixo na parte côncava de meu
ombro e seu bafo me queimava. À direita, os jardins desciam até o lago. A partir de Chavoire, a estrada era orlada de palmeiras e de pinheiros guarda-sóis.
Nós passamos o vilarejo de Veyrier-du-Lac e nos metemos num caminho em declive. O portão ficava em nível inferior da estrada. Sobre uma placa de madeira, esta inscrição:
"Villa les Tilleuls"(o mesmo nome de meu hotel). Uma aléia de
28
cascalho bastante grande, ladeada de árvores e de uma massa de vegetação abandonada, levava à entrada da casa, grande edifício branco em estilo Napoleão III, com
portas
cor-de-rosa. Alguns automóveis estavam estacionados uns de encontro aos outros. Atravessamos o vestíbulo para desembocar numa peça que devia ser o salão. Lá, na
luz peneirada que duas ou três lâmpadas difundiam, vislumbrei umas dez pessoas, umas de pé junto às janelas, outras embaixo, sobre um sofá branco, o único móvel,
parecia. Eles se dedicavam a beber e mantinham conversas animadas, em alemão e em francês. Um pick-up colocado ali mesmo no assoalho difundia uma melodia lenta a
que se misturava a voz muito grave de um cantor repetindo:
Oh, Bionda gari... Oh, Bionda girl... Bionda girl...
Yvonne tinha me segurado o braço. Meinthe lançava olhares rápidos em torno de si, como se procurasse alguém, mas os membros daquela reunião não prestavam a menor
atenção em nós. Pela porta da sacada alcançamos uma varanda com balaustrada de madeira verde onde se encontravam espreguiçadeiras e poltronas de vime. Uma lanterna
chinesa desenhava sombras complicadas em forma de renda e entrelaços e se podia dizer que os rostos de Yvonne e de Meinthe tinham sido bruscamente encobertos
por pequenos véus.
Embaixo, no jardim, diversas pessoas se apertavam em torno de um bufê que parecia que ia desabar de tanta comida. Um homem muito alto e muito louro nos acenava
e caminhava em nossa direção, apoiando-se numa bengala. Sua camisa de linho bege, muito aberta, parecia uma túnica do Saara, e eu pensava naqueles personagens
que se encontravam antigamente nas colônias e que tinham um "passado". Meinthe me apresentou a ele: Rolf Madeja, o "diretor". Ele se inclinou para beijar Yvonne
e pousou a mão no ombro de Meinthe. Chamava-o de "Menthe", com um sotaque mais britânico do que alemão.
29
Levou-nos em direção ao bufê e aquela mulher loura, também alta como ele, aquela Walkiria de olhar afogado (ela nos fixava sem nos ver, ou então contemplava alguma
coisa através de nós), era sua esposa.
Tínhamos deixado Meinthe em companhia de um jovem com fisico de alpinista e íamos, Yvonne e eu, de grupo em grupo. Ela beijava todo mundo e quando lhe perguntavam
quem eu era, ela respondia: "um amigo." Pelo que entendi, a maior parte daquelas pessoas tinha participado do "filme". Dispersaram-se pelo jardim. Aí tudo se
via muito bem devido ao clarão da lua. Seguindo as atéias invadidas pelo capim, descobria-se um cedro de altura assustadora. Tínhamos atingido o muro da cerca,
atrás do qual se escutava o marulho do lago e permanecemos ali, um longo momento. Daquele lugar se percebia a casa, que se erguia no meio do parque abandonado
e se ficava surpreso com sua presença, como se se acabasse de chegar àquela cidade antiga da América do Sul onde, parece, uma casa de ópera em estilo rococó,
uma catedral e hotéis particulares em mármore de Carrara estão hoje enterrados sob a floresta virgem.
Os convidados não se aventuraram a ir tão longe quanto nós, com exceção de dois ou três casais que discerníamos vagamente e que aproveitavam a mata luxuriante e
a noite. Os outros se mantinham diante da casa ou na varanda. Juntamo-nos de novo a eles. Onde estava Meinthe? Talvez lá dentro, no salão. Madeja se aproximou e
com seu sotaque meio britânico meio alemão nos explicava que de bom grado ficaria aqui mais 15 dias, mas tinha que ir a Roma. Alugaria de novo a vila em setembro
"quando a montagem do filme estivesse terminada". Ele pega Yvonne pela cintura e não sei se a bolina ou se seu gesto tem alguma coisa paternal:
- Ela é muito boa atriz. Ele me fixa e noto em seus olhos uma bruma cada vez mais compacta.
- O senhor se chama Chmara, não é? A bruma se dissipa de repente, seus olhos brilham com um fulgor azul mineral.
30
- Chmara... é mesmo Chmara, hein? Eu respondo: sim, na ponta dos lábios. E seus olhos, de novo, perdem sua dureza, borram-se, até se liquefazerem completamente.
Sem dúvida ele tem o poder de governar seu brilho à vontade como se ajusta um par de binóculos. Quando quer se voltar para si mesmo, então os olhos se embaçam
e o mundo exterior não é mais que uma massa fluida. Conheço bem esse procedimento porque o emprego com freqüência.
- Havia um Chmara, em Berlim, no tempo... - me dizia ele. - Não é, Ilse?
Sua mulher, esticada numa espreguiçadeira na outra extremidade da varanda, tagarelava com dois jovens e se voltou com um sorriso nos lábios.
- Não é, Ilse? Havia um Chmara no tempo, em Berlim. Ela o olhava e continuava sorrindo. Depois, virou de novo a cabeça e retomou sua conversa. Madeja sacudiu os
ombros e apertou a bengala com as duas mãos.
- Sim... Sim... Esse Chmara morava na aléia Kaiser... O senhor não está acreditando em mim, hein?
Ele se levantou, acariciou o rosto de Yvonne e andou na direção da balaustrada de madeira verde. Ficou lá, de pé, compacto, a contemplar o jardim sob a lua.
Nós estávamos sentados um ao lado do outro, sobre dois pufes, e ela apoiava a cabeça contra meu ombro. Uma moça morena cuja blusa cavada deixava ver os seios (a
cada gesto um pouco mais brusco, pulavam para fora do decote) nos estendia dois copos cheios de um líquido cor-de-rosa. Ela ria às gargalhadas, beijava Yvonne,
suplicava em italiano que bebêssemos aquele coquetel que ela tinha preparado "especialmente para nós". Chamava-se, se me lembro bem, Daisy Marchi e Yvonne me
explicou que fazia o papel principal no "filme". Também ia fazer uma grande carreira. Era conhecida em Roma. E já ela nos abandonava, rindo cada vez mais e sacudindo
os longos cabelos, para juntar-se a um homem de cerca de cinqüenta anos, porte esbelto e rosto grisalho que estava à porta da sacada, com um copo na mão. Este
era Harry Dressel, um holandês, um dos
atores do "filme". Outras pessoas ocupavam as poltronas de vime ou se apoiavam na balaustrada. Algumas cercavam a mulher de Madeja, que sorria sempre, com os olhos
ausentes. Pela porta da sacada, escapavam um murmúrio de conversas e uma música lenta e melosa mas, desta vez, o cantor de voz grave repetia:
Abat-jour Che sofonde la luce blu...
Madeja passeava no gramado na companhia de um homenzinho careca que lhe batia na cintura, de modo que era obrigado a se abaixar para falar. Passavam e voltavam a
passar na frente da varanda. Madeja cada vez mais pesado e curvo, seu interlocutor cada vez mais empinado na ponta dos pés. Ele emitia um zumbido de zangão e
a única frase que pronunciava utilizando a linguagem dos homens era: "va bene Rolf...va bene Rolf... va bene Rolf...vabenerolf..." O cachorro de Yvonne, sentado
à borda da varanda numa posição de esfinge, acompanhava o vaivém virando a cabeça da direita para a esquerda, da esquerda para a direita.
Onde estávamos? No coração da Haute-Savoie. É inútil me repetir esta frase reconfortante: "no coração da
Haute-Savoie". Penso, antes, num país colonial ou nas ilhas
Caraíbas. Senão, como explicar aquela luz suave e corrosiva, aquele azul noite que deixava os olhos, as peles, os vestidos e os ternos de alpaca fosforescentes?
Aquelas pessoas todas estavam cercadas de uma eletricidade misteriosa e se esperava, a cada gesto delas, que se produzisse um curto-circuito. Seus nomes - alguns
me ficaram na memória e lamento não tê-los anotado todos na hora: eu os teria recitado à noite, antes de dormir, ignorando a quem pertenciam, sua consonância me
teria bastado - seus nomes evocavam aquelas pequenas sociedades cosmopolitas dos portos livres e balcões ultramarinos: Gay Orloff, Percy Lippitt, Osvaldo Valenti,
IIse Korber, Roland Witt von Nidda, Geneviève Bouchet, Geza Pellemont, François Brunhardt...Que
32
vieram a ser? O que dizer-lhes nesse encontro em que os ressuscito? Já nessa época vai fazer 13 anos em breve - me davam a sensação de ter, há muito, queimado suas
vidas. Eu os observava, escutava-os falar debaixo da lanterna chinesa que salpicava os rostos e os ombros das mulheres. A cada um eu emprestava um passado que
recortava o dos outros, e eu gostaria que me revelassem tudo: quando Percy Lippitt e Gay Orloff se encontraram pela primeira vez? Um dos dois conhecia Osvaldo Valenti?
Por intermédio de quem Madeja passou a se relacionar com Geneviève Bouchet e François Brunhardt? Quem, dessas seis pessoas, tinha introduzido no seu círculo Roland
Witt von Nidda? (E cito apenas aqueles cujos nomes guardei.) Uma quantidade de enigmas que supunha uma infinidade de combinações, uma teia de aranha que passaram
dez ou vinte anos a tecer.
Era tarde e procurávamos Meinthe. Ele não se encontrava nem no jardim, nem na varanda, nem no salão. O Dodge tinha desaparecido. Madeja, com quem cruzamos na escadaria
exterior, em companhia de uma menina de cabelo louro muito curto, nos declarou que "Menthe" acabava de sair com "Fritzi Trenker" e com certeza não iria voltar.
Deu uma gargalhada que me surpreendeu e apoiou a mão no ombro da menina.
- Minha bengala de velho - declarou ele. O senhor entende, Chmara? Depois nos deu as costas, bruscamente. Atravessava o corredor apoiando-se com mais força no ombro
da jovem. Tinha o aspecto de um velho lutador de boxe cego.
Foi a partir desse momento que as coisas tomaram outro rumo. Apagaram as lâmpadas do salão. Restava apenas uma vigia na chaminé cuja luz rosa era apagada por grandes
zonas de sombra. À voz do cantor italiano sucedeu-se uma voz feminina, que se interrompia, enrouquecia a ponto de não se compreender mais as palavras da canção
e de se imaginar se era o lamento de uma moribunda ou um grunhido de prazer. Mas a voz de repente se purificava e as mesmas palavras voltavam, repetidas em doces
inflexões.
33
A mulher de Madeja estava deitada atravessada no sofá e um dos jovens que a cercavam na varanda inclinava-se sobre ela, começava a desabotoar lentamente seu vestido.
Ela fixa o teto, os lábios entreabertos. Alguns casais dançam, um pouco colados demais, fazendo gestos um tanto preciosos demais. Na passagem vejo o estranho
Harry Dressel acariciar com a mão pesada as coxas de Daisy Marchi. Perto da porta da sacada, um espetáculo prende a atenção de um pequeno grupo: uma mulher dança
sozinha. Ela tira o vestido, a combinação, o sutiã. Nós nos juntamos ao grupo, Yvonne e eu, por ociosidade. Roland Witt von Nidda, o rosto alterado, a devora com
os olhos: ela está só de meias e ligas e continua a dançar. De joelhos, ele tenta arrancar as ligas da mulher com os dentes, mas ela sempre se esquiva. Afinal,
decide-se por tirar esses acessórios ela própria e continua a dançar completamente nua, girando em torno de Witt von Nidda, roçando-o, e este se mantém imóvel,
impassível, com o queixo estendido, o busto encurvado, toureiro grotesco. Sua sombra contorcida aparece na parede e a da mulher - desmesuradamente aumentada - varre
o teto. Logo não há mais, por aquela casa toda, senão um balé de sombras que se perseguem umas às outras, sobem e descem as escadas, soltam gargalhadas e gritos
furtivos.
Contíguo ao salão, um cômodo de canto. Estava mobiliado com uma escrivaninha maciça com inúmeras gavetas, como eram, suponho, no ministério das Colônias, e uma
grande poltrona de couro verde escuro. Refugiamo-nos ali. Lancei um último olhar ao salão e ainda vi a cabeça da senhora Madeja lançada para trás (estava apoiando
a nuca no braço do sofá). Sua cabeleira loura caía até o chão, e aquela cabeça dir-se-ia que acabava de ser cortada. Ela pôs-se a gemer. Eu mal distinguia o outro
rosto, próximo ao dela. Ela soltava gemidos cada vez mais fortes e pronunciava frases desordenadas: "me mata... me mata... me mata... me mata". Sim, lembro-me
de tudo isso.
O chão do escritório estava coberto por um tapete de lã muito grosso e nós nos deitamos ali. Um raio, ao nosso lado,
34
desenhava uma barra cinza-azulada que ia de um canto do cômodo ao outro. Uma das janelas estava entreaberta e eu ouvia farfalhar uma árvore cuja folhagem acariciava
o vidro. E a sombra dessa folhagem cobria a biblioteca com uma rede de noite e de lua. Estavam ali todos os livros da coleção do "Máscara".
O cão adormeceu diante da porta. Nenhum ruído mais, nenhuma voz nos vinha do salão. Quem sabe todos tinham deixado a vila e só nós permanecíamos? Flutuava no escritório
um perfume de couro velho e me perguntei quem teria arrumado os livros nas prateleiras. A quem pertenciam? Quem vinha à noite fumar um cachimbo aqui, trabalhar
ou ler um dos romances ou escutar o sussurro das folhas?
Sua pele tinha tomado um matiz opalino. A sombra de uma folha vinha tatuar sua espádua. Às vezes, ela se abatia sobre seu rosto e dir-se-ia que estava de máscara.
A sombra descia e lhe amordaçava a boca. Eu gostaria que o dia jamais se levantasse, para ficar com ela encoscorado no fundo daquele silêncio e daquela luz de
aquário. Um pouco antes da aurora" ouvi uma porta bater, passos precipitados acima de nós e o barulho de um móvel virado. E depois gargalhadas. Yvonne tinha adormecido.
O dogue sonhava soltando, a intervalos regulares, um gemido surdo. Entreabri a porta. Não havia ninguém no salão. A vigia continuava iluminada, mas sua claridade
parecia mais fraca, não mais cor-de-rosa, mas verde muito claro. Dirigi-me à varanda para tomar ar. Ninguém também sob a lanterna chinesa que continuava brilhando.
O vento a fazia oscilar e formas dolorosas, umas de aparência humana, corriam pelas paredes. Embaixo, o jardim. Eu tentava definir o perfume que se desprendia daquela
vegetação e invadia a varanda. Mas sim, hesito em dizê-lo pois isso se passava na Haute-Savoie: eu respirava um cheiro de jasmim.
Atravessei outra vez o salão. A vigia sempre difundindo sua luz verde pálida, em ondas lentas. Pensei no mar e naquele líquido gelado que se bebe nos dias de calor:
menta diabolo. Ouvi ainda explosões de riso e sua pureza me espantou.
35
Vinham de muito longe e se aproximavam de repente. Não conseguia localizá-las. Eram cada vez mais cristalinas, voláteis. Ela dormia, a maçã do rosto apoiada sobre
o braço direito, estendido para a frente. A barra azulada que a lua projetava através do cômodo iluminava a fenda dos lábios, o pescoço, a nádega esquerda e o calcanhar.
Sobre suas costas aquilo fazia como que um cachecol retilíneo. Eu prendia a respiração.
Revejo o balanço das folhas atrás do vidro e aquele corpo cortado em dois por um raio de lua. Por que, às paisagens da Haute-Savoie que nos cercam, superpõe-se
em minha memória uma cidade desaparecida, a Berlim de antes da guerra? Talvez porque ela "trabalhasse" num "filme" de "Rolf Madeja". Mais tarde me informei a
respeito dele e fiquei sabendo que tinha debutado muito novo nos estúdios da U.F.A. Em fevereiro de 45, tinha começado seu primeiro filme, Confettis für zwei,
uma opereta vienense muito frívola e muito alegre cujas cenas ele rodava entre dois bombardeios. O filme ficou inacabado. E eu, quando evoco essa noite, avanço
entre as casas pesadas da Berlim de outrora, bordejo cais e bulevares que não existem mais. Da Alexander-Platz, caminhei em linha reta, atravessei o Lust-Garten
e a Sprée. A noite cai sobre as quatro fileiras de tílias e castanheiros e sobre os bondes que passam. Estão vazios. As luzes tremem. E você, você me espera naquela
gaiola de verdura que brilha no final da avenida, o jardim de inverno do hotel Adlon.
36
IV
Meinthe olhou atentamente o homem de impermeável que arrumava os copos. Este acabou por baixar a cabeça e de novo absorveu-se no trabalho. Mas Meinthe permanecia
diante dele, congelado num irrisório alerta. Em seguida, voltou-se para os outros dois que o examinavam, com sorriso mau e o queixo apoiado na ponta do cabo da
vassoura. A semelhança física deles era marcante: os mesmos cabelos louros cortados à escova, o mesmo bigodinho, os mesmos olhos azuis salientes. Inclinavam o
corpo, um para a direita, o outro para a esquerda, de maneira simétrica, tanto se poderia imaginar que fosse a mesma pessoa refletida num espelho. Essa ilusão Meinthe
deve ter tido, porque se aproximou dos dois homens lentamente, com a sobrancelha franzida. Quando estava a alguns centímetros deles, deslocou-se para observá-los
de costas, a três quartos e de perfil. Os outros não se mexiam, mas se adivinhava que estavam prestes a se soltar e esborrachar Meinthe com uma saraivada de murros.
Meinthe desviou deles e recuou para a saída do restaurante, sem lhes tirar os olhos de cima. Eles permaneceram ali, petrificados, sob a claridade avara e amarelada
que destilava o aplique da parede.
Ele agora atravessa a praça da Estação, com a gola do
37
jaquetão levantada e a mão esquerda crispada sobre o lenço, como se estivesse ferido no pescoço. Neva um pouquinho. Os flocos são tão leves e finos que flutuam
no ar. Ele se embrenha pela rua Sommeiller e pára diante do Régent. Lá estão passando um filme muito antigo que se chama La dolce vita, Meinthe se abriga sob o
toldo do cinema e olha as fotografias do filme uma por uma, ao mesmo tempo em que tira do bolso do jaquetão uma piteira. Ele a aperta entre os dentes e apalpa
todos os outros bolsos à procura - sem dúvida - de um Carne!. Mas não encontra. Então seu rosto é tomado por tiques, sempre os mesmos: crispação da bochecha esquerda
e movimentos secos do queixo - mais lentos e mais dolorosos do que há 12 anos.
Ele parece hesitar quanto ao caminho a seguir: atravessar e pegar a rua Vaugelas que se junta à rua Royale ou continuar descendo a rua Sommeiller? Um pouco mais
em baixo, à direita, a placa verde e vermelha do Cintra. Meinthe a fixa, piscando os olhos. CINTRA. Os flocos voam em turbilhão em torno daquelas seis letras e
tomam também eles uma cor verde e vermelha. Verde cor de absinto. Vermelho campari...
Ele anda em direção àquele oásis, com as costas encurvadas, as pernas tesas e, se não fizesse esse esforço de tensão, certamente escorregaria na calçada, boneco
desarticulado.
O cliente de casaco xadrez continua lá, mas já não importuna a garçonete. Sentado diante de uma mesa, bem no fundo, bate com o indicador esticado repetindo numa
vozinha que podia ser a de uma senhora muito velha: "E zim... bum-bum... e zim... bum-bum..." A garçonete, por sua vez, lê uma revista. Meinthe sobe num dos tamboretes
e lhe pousa a mão sobre o braço.
- Um porto claro, minha pequena - cochicha ele.
38
V
Deixei os Tilleuls para morar com ela no Hermitage. Uma noite, vieram me buscar, Meinthe e ela. Eu acabava de jantar e esperava no salão, sentado bem perto do
homem com cara de cocker spaniel triste. Os outros atacavam sua canastra. As mulheres tagarelavam com a senhora Buffaz. Meinthe parou no vão da porta. Vestia um
terno cor-de-rosa muito claro e de seu bolso pendia um lenço verde escuro.
Eles se voltaram para ele. - Senhoras... Senhores murmurou Meinthe inclinando a cabeça. Depois caminhou em minha direção e se endireitou: Estamos esperando-o. Pode
mandar descer sua bagagem.
A senhora Buffaz me perguntou brutalmente: - O senhor está nos deixando? Eu estava de olhos baixos. - Isto ia acontecer mais dia menos dia, madame - respondeu
Meinthe, num tom sem réplica.
- Mas ele poderia ao menos nos avisar com antecedência.
Compreendi que aquela mulher sentia um ódio súbito em relação a mim e que não hesitaria em me entregar à polícia sob o menor pretexto. Fiquei entristecido.
39
- Senhora ouvi Meinthe responder -, esse moço não pode fazer nada, ele acaba de receber uma ordem de missão assinada pela rainha dos belgas.
Eles nos encaravam, petrificados, com as cartas na mão. Meus habituais vizinhos de mesa me inspecionavam com um ar ao mesmo tempo surpreso e enojado, como se acabassem
de perceber que eu não pertencia à espécie humana. A alusão à "rainha dos belgas" foi acolhida com um murmúrio geral e quando Meinthe, sem dúvida querendo enfrentar
a senhora Buffaz que estava a sua frente, de braços cruzados, repetiu, martelando as sílabas:
- Ouviu, madame? A RAINHA DOS BELGAS... - o murmúrio aumentou e me provocou uma fisgada no coração. Então, Meinthe bateu no chão com o salto, esticou o queixo e
gritou muito rapidamente, embaralhando as palavras:
-Não disse tudo à senhora, madame... A RAINHA DOS BELGAS sou eu...
Houve gritos e movimentos de indignação: a maior parte dos hóspedes tinha se levantado e formava um grupo hostil, diante de nós. A senhora Buffaz avançou um passo
e temi que ela desse uma bofetada em Meinthe ou em mim. Essa última possibilidade me parecia natural: eu me sentia o único responsável.
Eu gostaria de pedir perdão àquelas pessoas ou que um golpe de vara mágica apagasse da memória delas o que acabava de acontecer. Todos os meus esforços para passar
desapercebido e me dissimular num local seguro tinham sido reduzidos a nada, em alguns segundos. Eu sequer ousava lançar um último olhar em volta do salão onde
após os jantares um coração inquieto como o meu tinha se sentido tão em paz. E quis mal a Meinthe, por um breve instante. Por que lançar a consternação entre aqueles
pobres hóspedes que jogavam canastra? Eles me tranqüilizavam. Na companhia deles, eu não corria risco algum.
A senhora Buffaz de bom grado teria nos jogado veneno na cara. Seus lábios ficavam cada vez mais finos. Eu a perdôo.
40
Eu a havia traído, de certa forma. Eu tinha sacudido a preciosa relojoaria que eram os Tilleuls. Se ela estiver me lendo (o que duvido; e aliás, os Tilleuls já
não existem), gostaria que soubesse que eu não era um mau rapaz.
Foi preciso descer as "bagagens" que eu tinha arrumado à tarde. Compunham-se de um baú de três malas grandes. Continham escassas roupas, todos os meus livros, meus
velhos catálogos e os números de Match, Cinémonde, Music-hall, Détective e Noir et blanc dos últimos anos. Aquilo pesava muito. Meinthe, querendo deslocar o baú,
quase foi esmagado por ele. Conseguimos, à custa de esforços inauditos, deitá-lo transversalmente. Em seguida, levamos uns vinte minutos para arrastá-lo pelo corredor
até o patamar da escada. Escorávamos, Meinthe na frente, eu atrás, e nos faltava fôlego. Meinthe se deitou totalmente sobre o assoalho, com os braços em cruz e
os olhos fechados. Eu voltei a meu quarto e bem ou mal, vacilando, transportei as três malas até a beira da escada.
A luz se apagou. Fui tateando até o interruptor, mas era inútil acioná-lo, continuava escuro. Embaixo, a porta entreaberta do salão deixava filtrar uma vaga claridade.
Distingui uma cabeça que se inclinava na abertura: a da senhora Buffaz, eu tinha quase certeza. Logo compreendi que ela devia ter retirado um dos fusíveis para
que descêssemos a bagagem na escuridão. E isso me causou um riso nervoso louco.
Empurramos o baú até enfiá-lo na escada pela metade. Estava em equilíbrio precário sobre o primeiro degrau. Meinthe agarrou-se ao corrimão e deu um chute raivoso:
a mala deslizou, pulando a cada degrau e fazendo um barulho assustador. Poderse-ia pensar que a escada ia desmoronar. A cabeça da senhora Buffaz apareceu outra
vez de perfil na abertura da porta do salão, cercada de outras três ou quatro. Ouvi guinchar: "olhem só esses porcos..." Alguém repetia numa voz sibilante a palavra
"polícia". Peguei uma mala em cada mão e comecei a descer. Não via nada. Aliás, preferia fechar os olhos e contar baixo para ter coragem. Um-dois-três. Um-dois-três...
Se escorregasse,
41
seria arrastado pelas malas até o térreo e aniquilado pelo choque. Impossível fazer uma pausa. Minhas clavículas iam arrebentar. E aquele horrível riso louco
voltava a me tomar.
A luz voltou e me ofuscou. Eu me encontrava no térreo, entre as duas malas e o baú, embotado. Meinthe me seguia, a terceira mala na mão (ela pesava menos porque
continha apenas meus negócios de toalete) e bem que eu gostaria de saber quem foi que me deu força para chegar vivo até lá. A senhora Buffaz me estendeu a nota,
que acertei com o olhar fugidio. Depois ela entrou no salão e bateu a porta atrás de si. Meinthe se apoiava contra o baú e batia no rosto com o lenço enrolado
feito bola, com os pequenos gestos precisos de uma mulher que se empoa.
- É preciso continuar, meu velho - disse ele, apontando a bagagem -, continuar...
Arrastamos o baú até a escada exterior. O Dodge estava estacionado perto do portão dos Tilleuls e eu adivinhava a silhueta de Yvonne, sentada na frente. Ela fumava
um cigarro e nos fez sinal com a mão. Conseguimos apesar de tudo alçar a mala ao banco de trás. Meinthe se prostrou de encontro ao volante e eu fui buscar as três
malas, no vestíbulo do hotel.
Alguém estava imóvel na frente do balcão da recepção: o homem com cara de cocker spaniel. Ele andou em minha direção e parou. Eu sabia que ele queria me dizer
alguma coisa mas as palavras não saíam. Achei que ia soltar seu latido, aquele gemido doce e prolongado que eu era sem dúvida o único a escutar (os hóspedes dos
Tilleuls continuavam sua partida de canastra ou sua conversação). Ele permanecia ali, com as sobrancelhas franzidas, a boca entreaberta, fazendo esforços cada
vez mais violentos para falar. Ou estava sentindo náusea e não conseguia vomitar? Ao cabo de alguns minutos retomou a calma e me disse numa voz surda : "O senhor
está indo na hora. Até à vista, senhor."
Ele me estendia a mão. Vestia um casaco grosso de tweed e calça de tecido bege ao avesso. Eu admirava os sapatos dele;
42
de camurça cinzenta com solas de crepe muito, muito grossas. Estava certo de ter encontrado esse homem antes de minha estada nos Tilleuls, e isso devia remontar
a uns dez anos. E de repente... Mas sim, eram os mesmos sapatos, e o homem que me estendia a mão aquele que tanto tinha me intrigado no tempo de minha infância.
Ele ia às Tulherias toda quinta-feira e todo domingo com um barco miniatura (uma reprodução fiel do Kon Tiki) e o via evoluir pelo lago, mudando de posto de observação,
empurrando-o com a ajuda de uma vara quando encalhava contra a margem de pedra, verificando a solidez de um mastro ou de uma vela. Às vezes, um grupo de crianças
até mesmo de gente grande acompanhava aquela manobra e ele lhes lançava um olhar furtivo como se receasse sua reação. Quando lhe perguntavam sobre o barco, respondia,
gaguejando: sim, era um trabalho muito demorado, muito complicado, construir um Kon Tiki. E, enquanto falava, acariciava o brinquedo. Por volta das sete horas da
noite, levava o barco e se sentava num banco para enxugá-lo, com a ajuda de uma toalhaesponja. Eu o via em seguida dirigir-se à rua Rivoli, com o Kon Tiki debaixo
do braço. Mais tarde, devo ter pensado freqüentemente naquela silhueta que se afastava no crepúsculo.
Ia lembrá-lo de nossos encontros? Mas sem dúvida ele tinha perdido o barco dele. Eu disse por minha vez: "Adeus, senhor". Empunhei as duas primeiras malas e atravessei
lentamente o jardim. Ele andava a meu lado, silencioso. Yvonne estava sentada no pára-lama do Dodge. Meinthe, ao volante, tinha a cabeça deitada no banco e os olhos
fechados. Arrumei as duas valises na mala do carro, atrás. O outro espiava todos os meus gestos com interesse ávido. Quando atravessei de novo o jardim, me precedia,
e se voltava de vez em quando para ver se eu continuava lá. Ele levantou a última mala com um gesto seco e me disse: " o senhor permite..."
Era a mais pesada. Eu tinha arrumado nela os catálogos. Ele a pousava a cada cinco metros e tomava ar. Cada vez que eu fazia menção de pegá-la, me dizia:
43
- Por favor, senhor... Quis ele próprio erguê-la ao banco de trás. Conseguiu com muito esforço, depois ficou lá. Os braços balançando, o rosto um pouco congestionado.
Não prestava atenção alguma em Yvonne e Meinthe. Cada vez mais parecia um cocker spaniel.
- Veja, senhor murmurou ele - ... eu lhe desejo boa sorte.
Meinthe deu a partida suavemente. Antes de o automóvel entrar na primeira curva, virei-me. Ele estava de pé no meio da estrada, bem perto de um poste que iluminava
seu casaco grosso de tweed e suas calças bege ao avesso. Só lhe faltava, em suma, o Kon Tiki debaixo do braço. Há seres misteriosos - sempre os mesmos - que se
põem de sentinela a cada encruzilhada de sua vida.
44
VI
No Hermitage, ela não só dispunha de um quarto mas também de um salão mobiliado com três poltronas estofadas de estampado, uma mesa redonda de acaju e um divã.
As paredes do salão e as do quarto estavam cobertas por um papel que reproduzia as telas de Jouy. Mandei pôr o baú num canto do cômodo, de pé, para ter a meu alcance
tudo que suas gavetas continham. Pulôveres ou velhos jornais. As malas, eu mesmo as empurrei para o fundo do banheiro, sem abri-las, pois é preciso estar pronto
de um instante a outro e considerar um refúgio provisório cada quarto onde se dá com os costados.
Além disso, onde poderia eu arrumar minhas roupas, meus livros e catálogos? Os vestidos e sapatos dela enchiam todos os armários e alguns ficavam em desordem sobre
as poltronas e o divã do salão. A mesa de acaju estava coberta de produtos de beleza. O quarto de hotel de uma atriz de cinema, pensava eu. A desordem que os
jornalistas descrevem, na Ciné-Mondial ou na Vedettes. A leitura de todas essas revistas muito me tinha impressionado. E eu sonhava. Então evitava os gestos muito
bruscos e as questões por demais precisas, para não despertar.
Já na primeira noite, acho, ela me pediu para ler o roteiro do filme que acabava de rodar sob a direção de Rolf Madeja.
45
Fiquei muito emocionado. Chamava-se: Liebesbriefe aufdem Berg (Carta de amor da montanha). A história de um instrutor
de esqui chamado Kurt Weiss. No inverno, ele dá cursos às ricas estrangeiras de férias naquela estação elegante de Vorarlberg. Seduz todas, graças à pele queimada
e à grande beleza física. Mas acaba se apaixonando loucamente por uma delas, mulher de um industrial húngaro, e esta retribui seus sentimentos. Eles vão dançar
no bar muito "chique" da estação debaixo dos olhares enciumados das outras mulheres. Em seguida, Kurtie e Lena terminam a noite no hotel Bauhaus. Juram-se amor
eterno e falam da vida futura num chalé isolado. Ela tem de partir para Budapeste, mas promete voltar o mais rapidamente possível. Agora, na tela, a neve cai;
depois cascatas cantam e as árvores se cobrem de folhas novas. É a primavera e, daqui a pouco, eis o verão. Kurt Weiss exerce seu verdadeiro oficio, de pedreiro,
e é com dificuldade que se reconhece nele o belo instrutor bronzeado do inverno. Toda tarde, escreve uma carta a Lena e espera a resposta. Uma moça da região o
visita de vez em quando, Eles vão fazer longas caminhadas juntos.
Ela o ama, mas ele pensa sem cessar em Lena. Ao final de peripécias que me esqueci, a lembrança de Lena pouco a pouco se esvai, em favor da moça (Yvonne fazia
esse personagem) e Kurtie compreende que não se tem o direito de desprezar uma solicitude tão terna. Na cena final, eles se beijam sobre um fundo de montanhas e
pôr-do-sol.
O quadro de uma estação de esportes de inverno, de seus costumes e freqüentadores me parecia muito "batido". Quanto à jovem
que Yvonne encarnava, era "um ótimo papel para uma iniciante".
Comuniquei a ela minha opinião. Ela me escutou com muita atenção. Fiquei orgulhoso dela. Perguntei-lhe em que data poderíamos ver o filme. Não antes do mês de
setembro, mas Madeja vai fazer, sem dúvida, uma projeção em Roma daqui a 15 dias "das tomadas de ponta a ponta". Nesse caso, ela me
levaria lá pois "queria tanto saber o que eu achava de sua interpretação"...
46
Sim, quando tento rememorar os primeiros instantes de nossa "vida em comum", escuto como numa fita magnética usada nossas conversas relativas a sua "carreira".
Quero me tornar interessante. Adulo-a... "Esse filme de Madeja é muito importante para a senhora, mas agora será necessário encontrar alguém que a valorize de verdade...
Um rapaz de gênio... Um judeu, por exemplo..." Ela, cada vez mais atenta. "O senhor acha?" "Sim, sim, tenho certeza".
A candura de seu rosto me espanta, a mim, que só tenho 18 anos. "Você acha mesmo?", diz ela. E à nossa volta a desordem do quarto é cada vez maior. Acho que não
saímos durante dois dias.
De onde vinha ela? Muito depressa compreendi que não morava em Paris. Falava de lá como uma cidade que mal conhecia. Tinha estado brevemente duas ou três vezes
no WindsorReynolds, um hotel da rua Beaujon de que me lembrava bem: meu pai, antes de seu estranho desaparecimento, ali marcava encontros comigo (a memória me
falha: foi no saguão do Windsor-Reynolds, ou no do Lutetia que o vi pela última vez?). Fora o Windsor-Reynolds só guardava de Paris a rua ColonelMoll e o bulevar
Beauséjour, onde tinha "amigos" (eu não ousava perguntar que amigos). Ao contrário, Genebra e Milão recorriam sempre em sua conversa. Tinha trabalhado em Milão e
em Genebra também. Mas que tipo de trabalho?
Olhei seu passaporte, às escondidas. Nacionalidade francesa. Domiciliada em Genebra, praça Dorcière, 6B. Por quê? Para minha grande surpresa, tinha nascido na cidade
de Haute-Savoie onde nos encontrávamos. Coincidência? Ou era originária da região? Ainda tinha família aqui? Arrisquei uma pergunta indireta sobre o assunto, mas
ela queria me esconder alguma coisa. Respondeu-me de modo muito vago, dizendo que tinha sido educada no estrangeiro. Não insisti. Com o tempo, pensava, terminarei
sabendo de tudo.
47
Ela também me fazia perguntas. Eu estava de férias aqui? Por quanto tempo? Tinha logo adivinhado, disse-me, que eu vinha de Paris. Declarei que "minha família"
(e senti grande volúpia ao dizer "minha família") queria que eu fizesse um repouso de vários meses, em função de minha saúde "precária". A medida que lhe fornecia
essas explicações, via uma dúzia de pessoas muito circunspectas, sentadas em volta de uma mesa, num cômodo com lambris: o "conselho de família", que ia tomar decisões
a meu respeito. As janelas do cômodo davam para a praça Malesherbes e eu pertencia àquela antiga burguesia judia que se fixou por volta de 1890 na planície Monceau.
Ela me perguntou à queima-roupa: "Chmara é um nome russo. O senhor é russo?" Então pensei em outra coisa: morávamos, minha avó e eu, num térreo próximo da Étoile,
mais exatamente na rua Lord-Byron, ou na rua de Bassano (necessito de detalhes precisos). Vivíamos da venda de nossas "jóias de família" ou penhorando-as no crédito
municipal da rua Pierre-Charron. Sim, eu era russo, e me chamava conde Chmara. Ela pareceu impressionada.
Durante alguns dias não tive mais medo de nada nem de ninguém. E, em seguida, aquilo voltou. Velha dor alucinante.
Na primeira tarde que saímos do hotel, tomamos o barco Amiral-Guisand, que fazia a volta do lago. Ela exibia óculos escuros de armação grossa e lentes opacas e
prateadas. A gente se refletia neles como num espelho.
O barco avançava preguiçosamente e levou pelo menos vinte minutos para atravessar o lago até Saint-Jorioz. Eu franzia os olhos por causa do sol. Ouvia os murmúrios
distantes de lanchas a motor, os gritos e as gargalhadas das pessoas que se banhavam. Um avião de turismo passou, bem alto no céu, arrastando uma bandeirola onde
li estas palavras misteriosas: TAÇA HOULIGANT... A manobra foi muito demorada, antes de
48
aportarmos - ou melhor, do Amiral-Guisand ir de encontro ao cais. Três ou quatro pessoas subiram, entre elas um padre vestindo batina de um vermelho berrante, e
o barco retomou seu cruzeiro resfolegante. Depois de Saint-Jorioz, dirigiu-se a uma localidade chamada Voirens. Depois, seria Port-Lusatz e, um pouco mais longe,
a Suíça. Mas daria meia-volta a tempo e ganharia o outro lado do lago.
O vento lhe jogava na testa uma mecha de cabelo. Ela me perguntou se seria condessa caso nos casássemos. Disse isso num tom de brincadeira por trás do qual adivinhei
uma grande curiosidade. Respondi que se chamaria "condessa Yvonne Chmara".
- Mas é mesmo russo, Chmara? - Georgiano - disse eu. - Georgiano... Quando o barco parou em Veyrier-du-Lac, reconheci de longe a vila branca e rosa de Madeja.
Yvonne olhava na mesma direção. Uma dezena de jovens se instalou na ponte, a nosso lado. A maioria usava roupa de tênis e sob as saias brancas pregueadas as meninas
deixavam ver coxas grossas. Todos falavam com o sotaque dental que se cultiva para os lados do Ranelagh e da avenida Bugeaud. E me perguntei por que aqueles rapazes
e moças da boa sociedade francesa tinham, uns, ligeira acne, e outros, alguns quilos a mais. Sem dúvida aquilo tinha a ver com sua alimentação.
Dois membros do bando discutiam os méritos respectivos das raquetes Pancho Gonzalès e Spalding. O mais volúvel usava uma barba em toda a volta do rosto e uma camisa
enfeitada com um pequeno crocodilo verde. Conversa técnica. Palavras incompreensíveis. Burburinho doce e embalador, sob o sol. Uma das meninas louras não parecia
insensível ao charme de um moreno de mocassins e blazer com escudo, que se esforçava para brilhar diante dela. A outra loura declarava que "a festa era para depois
de amanhã à noite" e que os "pais lhes deixariam a vila". Barulho da água contra o casco. O avião voltava sobre nós e reli a estranha bandeirola: TAÇA HOULIGANT.
49
Iam todos (pelo que entendi) ao tênis clube de MenthonSaint-Bernard. Seus pais deviam ter vilas à beira do lago. E nós? Aonde íamos? E nossos pais, quem eram? Yvonne
pertencia a uma "boa família" como nossos vizinhos? E eu? Meu título de conde era, na verdade, algo diferente de um pequeno crocodilo verde perdido numa camisa branca...
"Estão chamando o senhor conde Victor Chmara ao telefone." Era como fragor de címbalos.
Nós descemos do barco em Menthon, com eles. Andavam a nossa frente, com as raquetes na mão. Seguíamos uma estrada ladeada de vilas cujo exterior lembrava chalés
de montanha e onde, já há muitas gerações, uma burguesia sonhadora passava as férias. Às vezes, essas casas eram escondidas por massas de abetos ou pinheiros.
Vila Primevère, Vila Edelweiss, Les Chamois, Chalé Marie-Rose... Eles tomaram um caminho, para a esquerda, que levava até as redes de uma quadra de tênis. Seu
zumbido e seus risos diminuíram.
Nós viramos para a direita. Um painel indicava: Grande Hotel de Menthon. Uma via particular subia uma encosta muito áspera até uma esplanada semeada de cascalho.
De lá, tinha-se uma vista tão vasta, mas mais triste, quanto a que se oferecia dos terraços do Hermitage. As margens do lago, desse lado, pareciam abandonadas.
O hotel era muito antigo. No saguão, plantas verdes, poltronas de rotim e grandes sofás forrados com tecido xadrez. Vinha-se para cá nos meses de julho e agosto
em família. Os mesmos nomes alinhavam-se no registro, nomes compostos franceses: Sergent-Delval, Hattier-Morel, PaquierPanhard... E quando pedimos um quarto, achei
que "conde Victor Chmara" ali ia cair como uma mancha de gordura.
À nossa volta, crianças, suas mães e seus avós, todos de uma grande dignidade, preparavam-se para ir à praia, levando bolsas cheias de almofadas e toalhas. Alguns
jovens cercavam um moreno alto, de camisa cáqui de exército aberta no peito e cabelo muito curto. Ele se apoiava em muletas. Os outros lhe faziam perguntas.
50
Um quarto de canto. Uma das janelas se abria sobre a esplanada e o lago, a outra tinha sido fechada. Um espelho grande e uma mesa pequena coberta com uma toalhinha
de renda. Uma cama com barras de cobre. Ficamos lá, até o cair da noite.
Enquanto atravessávamos o saguão, percebi-os fazendo a refeição da noite na sala de jantar. Estavam todos com roupas de cidade. As próprias crianças usavam gravatas
ou vestidinhos. E nós éramos os únicos passageiros no passadiço do AmiralGuisand. Ele atravessava o lago ainda mais lentamente do que na ida. Parava diante dos
embarcadouros vazios e retomava seu cruzeiro de velho bote cansado. As luzes das vilas cintilavam sob o verde. Ao longe, o Casino, iluminado por projetores. Naquela
noite certamente havia festa. Eu gostaria que o barco tivesse parado no meio do lago ou atracasse num dos pontões meio desmoronados. Yvonne tinha adormecido.
Jantávamos freqüentemente com Meinthe, no Sporting. As mesas ao ar livre, cobertas de toalhas brancas. Sobre cada uma delas, lâmpadas com dois abajures. Vocês
conhecem a fotografia do jantar do baile dos Pequenos Leitos Brancos, em Cannes, em 22 de agosto de 1939, e a que eu guardo comigo (meu pai aparece nela no meio
de um pessoal que sumiu), tirada no dia 11 de julho de 1948 no Casino do Cairo, na noite de eleição da miss Beleza do Banho, a jovem inglesa Kay Owen? Pois bem,
as duas fotos poderiam ter sido tiradas no Sporting, naquele ano, enquanto estávamos jantando. Mesma decoração. Mesma noite "azul". Mesma gente. Sim, eu reconhecia
certas caras.
Meinthe usava cada vez um smoking de cor diferente e Yvonne vestidos de musselina ou de crepe. Ela adorava coletes e lenços. Eu estava condenado a meu único terno
de flanela e a minha gravata do International Bar Fly. Nos primeiros tempos, Meinthe nos levava à Sainte-Rose, uma boate à beira do lago, depois de Menthon-Saint-Bernard,
em Voirens, exatamente.
51
Conhecia o gerente, chamado Pulli, que, me disse ele, estava com a permanência proibida. Mas aquele homem com início de barriga e olhos de veludo parecia ser a
doçura em pessoa. Ele ciciava. A Sainte-Rose era um lugar muito "chique". Ali se encontravam os mesmos veranistas ricos do Sporting. Ali se dançava num terraço
com pérgula. Lembro-me de ter apertado Yvonne contra mim pensando que jamais poderia viver sem o cheiro da pele e dos cabelos dela, e os músicos tocavam Tuxedo
Junction.
Em suma, tínhamos sido feitos para nos conhecermos e nos entendermos.
Voltávamos para casa muito tarde e o cão dormia no salão. Desde que me instalei com Yvonne no Hermitage, sua melancolia se agravava. A cada duas ou três horas -
regularidade de metrônomo - ele dava a volta no quarto, depois ia se deitar outra vez. Antes de passar para o salão, parava alguns minutos na frente da janela
de nosso quarto, sentava-se, com as orelhas em pé, talvez acompanhando com os olhos a evolução do AmiralGuisand pelo lago ou contemplando a paisagem. Eu ficava
espantado com a discrição triste daquele animal e emocionado ao surpreendê-lo em sua função de vigilante.
Ela vestia uma saída de praia com largas listas laranja e verde e se deitava na cama, atravessada, para fumar um cigarro. Na mesa de cabeceira, ao lado de um batom
ou vaporizador, estavam sempre jogadas cédulas. De onde vinha aquele dinheiro? Há quanto tempo ela morava no Hermitage? Tinham-na instalado lá enquanto durasse
o filme. Mas agora que havia terminado? Ela queria muito - explicou - passar a "temporada" naquele local de férias. A "temporada" ia ser muito "brilhante". "Férias",
"temporada", "muito brilhante", "conde Chmara"... quem mentia a quem naquela língua estrangeira?
Mas talvez ela precisasse de uma companhia? Eu me mostrava atento, solícito, delicado, apaixonado, como se é aos 18 anos. Nas primeiras noites, quando não se discutia
sua "carreira",
52
pedia-me que lesse para ela uma ou duas páginas da História da Inglaterra de André Maurois. Toda vez que eu começava, o dogue alemão logo vinha sentar-se à
porta que conduzia ao salão e me examinava com o olho severo. Yvonne, deitada, em sua saída de praia, escutava, as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Nunca
entendi por que ela, que jamais tinha lido nada na vida, gostava daquele tratado de história. Dava-me respostas vagas: "É muito bonito, sabe", "André Maurois é
um grande escritor". Acho que encontrou a História da Inglaterra no saguão do Hermitage e que, para ela, aquele volume tinha se transformado numa espécie de talismã
ou porta-felicidade. De vez em quando, repetia "lê mais devagar"ou perguntava o significado de uma frase. Queria decorar a História da Inglaterra. Eu disse que
André Maurois ficaria contente se soubesse disso. Então ela começou a me fazer perguntas sobre esse autor. Expliquei que era um romancista judeu muito terno que
se interessava pela psicologia feminina. Uma noite, quis que eu ditasse uma mensagem: " Senhor André Maurois, eu o admiro. Estou lendo sua História da Inglaterra
e gostaria de ter um autógrafo seu. Respeitosamente. Yvonne X".
Ele nunca respondeu. Por quê?
Desde quando ela conhecia Meinthe? Desde sempre. Ele também tinha - ao que parece um apartamento em Genebra e eles quase nunca se separavam. Meinthe exercia "mais
ou menos" a medicina. Eu tinha descoberto, entre as páginas do livro de Maurois, um cartão de visita com estas três palavras gravadas: "Doutor René Meinthe" e,
na prateleira de um dos lavabos, entre os produtos de beleza, uma receita encabeçada por "Doutor R.C. Meinthe", prescrevendo um sonífero.
Aliás, toda manhã, quando acordávamos, encontrávamos uma carta de Meinthe debaixo da porta. Guardei algumas e o tempo não apagou seu perfume de vetiver. Esse perfume,
eu me perguntava se vinha do envelope, do papel ou, quem sabe, da tinta que Meinthe utilizava. Reli uma delas ao acaso: "Terei
53
acaso o prazer de vê-los esta noite? Preciso passar a tarde em Genebra. Vou lhes telefonar por volta das nove horas para o hotel. Um abraço. Seu Renê M." E esta:
"Desculpem não lhes ter dado sinal de vida. Mas não saio do quarto há 48 horas. Penso que daqui a três semanas terei 27 anos. E serei uma pessoa muito velha, muito
velha. Até muito em breve. Um abraço. Sua madrinha de guerra. René". E esta, endereçada a Yvonne e com uma caligrafia mais nervosa: "Sabe quem acabo de ver no
saguão? Aquele porco do François Maulaz. E ele quis me apertar a mão. Ah não, jamais. Jamais. Que morra!" (essa última palavra sublinhada quatro vezes). E outras
cartas ainda.
Eles muitas vezes falavam entre si de pessoas que eu não conhecia. Guardei alguns nomes: Claude Brun, Paulo Hervieu, uma certa "Rosy", Jean-Pierre Pessoz, Pierre
Fournier, François Maulaz, a "Carlton", um tal de Dudu Hendrickx que Meinthe qualificava de "porco"... Muito rapidamente compreendi que essas pessoas eram originárias
do lugar onde nos encontrávamos, lugar de férias no verão, mas que voltava a ser uma cidadezinha sem história no fim de outubro. Meinthe dizia de Brun e de Hervieu
que tinham "subido" para Paris, que "Rosy" tinha retomado o hotel do pai em La Clusaz e que aquele "sujo" do Maulaz, o filho do livreiro, chamava a atenção todo
verão no Sporting, com um associado da Comédie-Française. Toda aquela gente tinha sido, sem dúvida, amiga de infância ou de adolescência deles. Quando eu fazia
uma pergunta, Meinthe e Yvonne mostravam-se evasivos e interrompiam sua conversa à parte. Eu então me lembrava do que tinha descoberto no passaporte de Yvonne
e os imaginava os dois aos 15 ou 16 anos, no inverno, à saída do cinema Régent.
54
VII
Bastaria eu voltar a encontrar um dos programas publicados pelo departamento de turismo - capa branca sobre a qual se destacam, em verde, o Casino e a silhueta
de uma mulher sentada ao estilo de Jean-Gabriel Domergue. Lendo a lista de féstividades e suas datas exatas, eu poderia constituir pontos de referência.
Uma noite fomos aplaudir Georges Ulmer, que cantava no Sporting. Isso acontecia, acho, no início de julho, e eu devia estar morando com Yvonne há cinco ou seis
dias. Meinthe nos acompanhava. Ulmer vestia um terno azul claro e muito cremoso, em que meu olhar se enviscava. Aquele aveludado azul tinha um poder hipnótico
porque quase adormeci, fixando-o.
Meinthe nos propôs beber alguma coisa. Na semipenumbra, no meio das pessoas que dançavam, ouvi-os falar da Taça Houligant pela primeira vez. Lembrei-me do avião
com a bandeirola enigmática. A Taça Houligant preocupava Yvonne. Tratava-se de uma espécie de concurso de elegância. Segundo o que dizia Meinthe, era necessário,
para participar da Taça, ter um automóvel de luxo. Usariam o Dodge ou alugariam um carro em Genebra? (Meinthe tinha levantado a questão.) Yvonne queria tentar
a sorte. O júri se compunha de diversas personalidades:
55
o presidente do clube de golfe de Chavoire e sua mulher; o presidente do departamento de turismo; o subprefeito de Haute-Savoie; André de Fouquières (esse
nome me sobressaltou e Pedi a Meinthe que repetisse: sim, era mesmo André de Fouquières, por muito tempo conhecido como "árbitro das elegâncias"e de quem eu tinha
lido as interessantes "Memórias"); senhor e senhora Sandoz, diretores do hotel Windsor; o ex-campeão de esqui Daniel Hendrickx, proprietário de lojas de esporte
muito chiques em Megève e Alpe d'Huez (aquele que Meinthe classificava como "porco"); um cineasta cujo nome hoje me escapa (algo como Gamonge ou Gamace) e, por
fim, o dançarino José Torres.
Meinthe também estava muito excitado com a perspectiva de concorrer por essa Taça na qualidade de cavaleiro servil de Yvonne. Seu papel se limitaria a dirigir o
automóvel ao longo da grande aléia de cascalho do Sporting e estacioná-lo diante do júri. Em seguida, desceria e abriria a porta para Yvonne. Evidentemente, o dogue
alemão participaria.
Meinthe assumiu um ar misterioso e me estendeu um envelope, piscando o olho: a lista dos participantes da Taça. Eles eram os últimos na liça, o número 32. "Doutor
R.C. Meinthe e senhorita Yvonne Jacquet" (acabo de encontrar seu sobrenome). A Taça Houligant era entregue todo ano na mesma data e recompensava "a beleza e a
elegância". Os organizadores souberam criar uma badalação publicitária bastante grande em torno dela posto que - me explicou Meinthe - às vezes saía nos jornais
de Paris. Para Yvonne, segundo ele, era muito interessante Participar.
E quando deixamos a mesa para dançar, ela não pôde evitar perguntar o que eu achava: devia ou não participar daquela Taça? Grave problema. Tinha o olhar perdido.
Eu distinguia Meinthe, que tinha ficado sozinho diante de seu porto "claro". Ele tinha posto a mão esquerda diante dos olhos feito viseira. Estaria chorando?
Por instantes, Yvonne e ele pareciam vulneráveis e desorientados (desorientados é o termo exato).
56
Mas é claro que ela devia participar da Taça Houligant. Com certeza. Era importante para a carreira dela. Com um pouco de sorte, seria Miss Houligant. Mas é claro.
Aliás, todas começavam assim.
Meinthe decidiu usar o Dodge. Se fosse polido na véspera da Taça, aquele modelo ainda faria boa impressão. A capota bege estava quase nova.
À medida que os dias passavam e nos aproximávamos do domingo, 9 de julho, Yvonne dava cada vez mais sinais de nervosismo. Virava copos, não ficava quieta, falava
asperamente com o cachorro. E este lhe lançava um olhar de doce misericórdia.
Meinthe e eu tentávamos tranqüilizá-la. A Taça com certeza seria menos desgastante para ela do que a filmagem. Cinco minutinhos. Alguns passos diante do júri. Nada
mais. E em caso de insucesso, o consolo de poder dizer-se que, entre todas as concorrentes, era a única que já tinha feito cinema. Uma profissional, de certo modo.
Não devíamos ser apanhados de surpresa e Meinthe nos propôs um ensaio geral, na sexta-feira à tarde, ao longo de uma grande aléia sombreada, atrás do hotel Alhambra.
Sentado numa cadeira de jardim, eu representava o júri. O Dodge avançava lentamente. Yvonne exibia um sorriso crispado, Meinthe dirigia com a mão direita. O cachorro
estava de costas para eles e se mantinha imóvel, de figura de proa.
Meinthe parou bem na minha frente e, apoiando-se com a mão esquerda na porta, num pulo nervoso, saltou por cima. Caiu com elegância, as pernas fechadas, o busto
erguido. Depois de esboçar uma saudação de cabeça, contornou o Dodge a passos miúdos e abriu com um gesto seco a porta de Yvonne. Ela saiu, segurando a coleira
do cão, e deu alguns passos tímidos. O dogue alemão mantinha a cabeça baixa. Retomaram seus lugares e Meinthe saltou de novo por cima da porta, para se recolocar
ao volante. Admirei sua agilidade.
57
Ele estava bastante decidido a repetir a façanha diante do júri. Iam ver a cara do Dudu Hendrickx.
Na véspera, Yvonne quis tomar champanhe. Teve um sono agitado. Era aquela menininha que quase chora antes de subir ao estrado no dia da festa da escola.
Meinthe tinha marcado encontro conosco no saguão às dez em ponto da manhã. A Taça começava ao meio-dia, mas ele precisava de tempo para acertar alguns detalhes:
exame geral do Dodge, conselhos diversos a Yvonne, e talvez também alguns exercícios de agilidade.
Fez questão de assistir aos últimos preparativos de Yvonne: ela hesitava entre um turbante rosa fúcsia e um grande chapéu de palha. "O turbante, querida, o turbante",
resolveu ele, excedendo-se na voz. Ela tinha escolhido um vestido tipo mantô em tecido branco. Meinthe, por sua vez, vestia um terno de xantungue cor de areia.
Eu me lembro das roupas.
Saímos, Yvonne, Meinthe, o cão e eu, debaixo do sol. Uma manhã de julho como nunca vi depois. Um vento ligeiro agitava a grande bandeira presa no topo de um mastro,
diante do hotel. Cores azul e ouro. A que país pertenciam?
Descemos na banguela o bulevar Carabacel. Os automóveis dos outros concorrentes já estavam estacionados, de cada lado da aléia muito larga que levava ao Sporting.
Ouviriam seus nomes e seu número graças a um alto-falante e deveriam logo se apresentar diante do júri. Este ficava na varanda do restaurante. Como a aléia terminava
num anel, num plano inferior, ele teria uma visão profunda da manifestação.
Meinthe tinha mandado eu me colocar o mais próximo possível dos jurados e observar o desenvolvimento da Taça nos mínimos detalhes. Eu tinha que vigiar principalmente
o rosto de Dudu Hendrickx enquanto Meinthe se desincumbia de seu número de altos volteios. Se houvesse necessidade, eu poderia fazer algumas anotações.
58
Esperávamos, sentados no Dodge. Yvonne, com a testa quase colada no retrovisor, verificava a maquiagem. Meinthe tinha posto estranhos óculos escuros de armação
de aço e batia no queixo e nas têmporas com o lenço. Eu acariciava o cachorro que nos lançava, a um de cada vez, olhares desolados. Estávamos parados ao lado de
uma quadra de tênis onde quatro jogadores - dois homens e duas mulheres - disputavam uma partida e, querendo distrair Yvonne, mostrei a ela que um dos tenistas
se parecia com o ator cômico francês Fernandel. "E se for ele?", sugeri. Mas Yvonne não me escutava. Suas mãos tremiam. Meinthe escondia sua ansiedade com uma tossida.
Ele ligou o rádio, que cobriu o barulho monótono e exasperante das bolas de tênis. Permanecíamos imóveis, os três, o coração batendo, escutando um noticiário.
Enfim o alto-falante anunciou: "Pede-se aos caros concorrentes à Taça Houligant de elegância que se preparem." E dois ou três minutos mais tarde: "Os concorrentes
número um, senhor e senhora Jean Hatmer!" Meinthe teve um ricto nervoso. Beijei Yvonne e lhe desejei boa sorte, e me dirigi por um desvio, rumo ao restaurante
do Sporting. Também me sentia bastante emocionado.
O júri estava atrás de uma fileira de mesas de madeira branca, cada uma munida de um guarda-sol verde e vermelho. Em toda a volta, um grande número de espectadores
se comprimia. Uns tinham a sorte de estar sentados, consumindo aperitivos, outros estavam de pé, em roupa de praia. Insinuei-me o mais próximo possível dos jurados,
como queria Meinthe, para vigiá-los.
Logo reconheci André de Fouquières, cuja fotografia eu tinha visto na capa de suas obras (os livros preferidos de meu pai. Ele os tinha recomendado e me deram
grande prazer). Fouquières usava um panamá, amarrado com uma fita de seda azul-marinho. Apoiava o queixo na palma da mão direita e seu rosto exprimia uma elegante
lassidão. Ele se entediava. Em sua idade, todos aqueles veranistas de biquínis e maiôs leopardo
59
lhe pareciam marcianos. Ninguém com quem falar de Émilienne d'Alençon ou de La Gandara. Com exceção de mim, se a ocasião se apresentasse.
O qüinquagenário de cabeça leonina, cabelos louros (pintava?) e pele queimada: Dudu Hendrickx, na certa. Falava sem parar com os vizinhos e ria alto. Tinha o olho
azul e emanava dele uma saudável e dinâmica vulgaridade. Uma mulher morena, de aspecto muito burguês, dirigia ao ex-esquiador sorrisos cúmplices: a presidente
do golfe de Chavoire ou a do departamento de turismo? A senhora Sandoz? Gamange (ou Gamonge), o homem do cinema, devia ser aquele sujeito de óculos de tartaruga
e roupas de cidade: jaquetão cruzado cinza com finas listras brancas. Se faço um esforço, aparece um personagem de cerca de cinqüenta anos, de cabelo cinza-azulado
ondulado e boca gulosa. Empinava o nariz no vento, e o queixo também, sem dúvida querendo parecer enérgico e tudo supervisionar, O subprefeito? Sr. Sandoz? E
o dançarino José Torres? Não, ele não tinha vindo.
Já um Peugeot 203 conversível cor grená avançava ao longo da aléia, parava no meio do anel e uma mulher num vestido bufante na cintura punha o pé no chão, com
um canicho anão debaixo do braço. O homem permanecia ao volante. Ela dava alguns passos diante do júri. Calçava sapatos pretos de salto agulha. Uma loura oxigenada,
como aquelas de que devia gostar o ex-rei Faruk do Egito, de que tantas me falou meu pai e cuja mão ele dizia ter beijado. O homem do cabelo cinza-azulado ondulado
anunciou: "Senhora Jean Hatmer", com uma voz dental, e sua boca moldava as sílabas desse nome. Ela soltou o canicho anão, que caiu sobre as patas, e andou mais
ou menos tentando imitar as modelos num desfile de alta costura: olhar vazio, cabeça flutuante. Em seguida, retomou seu lugar, no Peugeot. Aplausos tímidos. Seu
marido usava penteado à escova. Eu notei seu rosto tenso. Ele deu marcha à ré, depois uma hábil meia-volta e se via que para ele era questão de honra dirigir o
melhor possível. Deve ter lustrado ele mesmo seu Peugeot
60
para que brilhasse tanto. Decidi que se tratava de um casal jovem; ele, engenheiro, vindo de uma boa família burguesa, ela, de extração mais modesta: todos dois
muito esportivos. E, com meu hábito de tudo situar, imaginei-os morando num pequeno apartamento cosy da rua Docteur-Blanche, em Auteuil.
Sucederam-se outros concorrentes. Esqueci-os, ai de mim, com poucas exceções. Aquela eurasiana de trinta anos, mais ou menos, por exemplo, que acompanhava um homem
gordo e vermelho. Estavam num Nash conversível, cor verde água. Quando ela saiu do carro, deu um passo de autômato na direção do júri e parou. Foi tomada por um
tremor nervoso. Lançava olhares enlouquecidos a sua volta, sem mexer a cabeça. O gordo vermelho dentro do Nash a chamava "Monique... Monique... Monique..." e
poder-se-ia dizer que era um queixume, uma reza para domesticar um animal exótico e arisco. Ele saiu, por sua vez, e a puxou pela mão. Levou-a gentilmente ao assento.
Ela explodiu em soluços. Ele então deu a partida cantando pneu e ao virar só faltou varrer o júri. E aquele casal de sexagenários simpáticos cujos nomes gravei:
Jackie e Tounette Roland-Michel. Chegaram a bordo de um Studebaker cinza e se apresentaram juntos diante do júri. Ela, uma ruiva grande de rosto enérgico e cavalar,
de roupa de tênis. Ele, de estatura mediana, bigodinho, nariz importante, sorriso zombeteiro, físico de francês de verdade, como o imaginaria um produtor californiano.
Personalidades, com certeza, posto que o sujeito de cabelo cinza-azulado tinha anunciado: "Nossos amigos Tounette e Jackie Roland-Michel". Três ou quatro membros
do júri (entre os quais a mulher morena e Daniel Hendrickx) tinham aplaudido. Fouquières, de sua parte, sequer se deu o trabalho de honrá-los com um olhar. Eles
fizeram um cumprimento inclinando a cabeça, num movimento sincronizado. Comportaram-se bem e tinham os dois uma aparência muito satisfeita.
"Número 32. Senhorita Yvonne Jacquet e doutor René Meinthe." Pensei que fosse desmaiar. Em primeiro lugar, já não via mais nada, como se tivesse me levantado bruscamente,
61
depois de ter passado o dia inteiro deitado num sofá. E a voz que pronunciava seus nomes repercutia de todos os lados. Eu me apoiava no ombro de alguém, sentado
a minha frente, e me dei conta tarde demais de que se tratava de André de Fouquières. Ele se virou. Gaguejei umas desculpas moles. Impossível descolar minha mão
de seu ombro. Tive que me inclinar para trás, trazer pouco a pouco meu braço de volta contra o peito, crispando-me para combater um langor de chumbo. Não os vi
chegar no Dodge. Meinthe tinha parado o automóvel diante do júri. Os faróis estavam acesos. Meu mal-estar dava lugar a uma espécie de euforia e eu percebia as coisas
de maneira mais aguda que nos momentos normais. Meinthe buzinou três vezes e li nos rostos de diversos membros do júri um ligeiro espanto. O próprio Fouquières
pareceu interessado. Daniel Hendrickx sorria mas, em minha opinião, forçado. Aliás, aquilo era mesmo um sorriso? Não, chacota congelada. Eles não se moviam do
carro. Meinthe apagava e depois acendia outra vez os faróis. Aonde queria chegar? Pôs em movimento os limpadores de párabrisa. O rosto de Yvonne estava limpo, impenetrável.
E, de repente, Meinthe saltou. Um murmúrio percorreu o júri, os espectadores. Aquele salto não tinha comparação com o do "ensaio" da sexta-feira. Ele não se contentou
com passar por sobre a porta, mas pulou, ergueu-se no ar, jogou as pernas num movimento seco, caiu com agilidade, tudo num só impulso, numa só descarga elétrica.
E eu sentia tanta raiva, nervosismo e provocação quimérica naquilo que o aplaudi. Ele dava a volta em torno do Dodge, às vezes parando, congelando, como se andasse
por um campo minado. Todos os membros do júri observavam de boca aberta. Tinha-se a certeza de que ele corria perigo e quando, enfim, abriu a porta, alguns soltaram
um suspiro de alívio.
Ela saiu em seu vestido branco. O cachorro a seguiu, num salto preguiçoso. Mas ela não caminhou para lá e para cá na frente do júri como tinham feito as outras
concorrentes. Apoiouse na capota e ficou lá, a examinar Fouquières, Hendrickx, os outros, um sorriso insolente nos lábios. E num gesto imprevisível
62
arrancou o turbante e o jogou displicentemente para trás. Passou uma das mãos pelos cabelos para estendê-los sobre os ombros. O cachorro, por sua vez, pulou para
cima do Dodge e logo assumiu sua posição de esfinge. Ela o acariciava com a mão distraída. Meinthe, atrás, esperava ao volante.
Hoje, quando penso nela, é essa imagem que me vem com mais freqüência. Seu sorriso e seus cabelos ruivos. O cão branco e preto ao lado dela. O Dodge bege. E Meinthe,
que mal se distingue por trás do pára-brisa do automóvel. E os faróis acesos. E os raios de sol.
Lentamente, ela deslizou até a porta e a abriu sem tirar os olhos do júri. Retomou seu lugar. O cachorro saltou para o banco. de trás tão casualmente que me parece,
quando reconstituo essa cena em detalhe, vê-lo saltar em câmera lenta. E o Dodge - mas talvez não se deva confiar nas lembranças - sai do anel em marcha à ré.
E Meinthe (esse gesto também figura num filme tomado em câmera lenta) lança uma rosa. Ela cai sobre o paletó de Daniel Hendrickx, que a apanha e olha fixamente,
idiotizado. Não sabe o que fazer com ela. Nem ousa pô-la sobre a mesa. Enfim, dá uma gargalhada estúpida e a oferece a sua vizinha, a mulher morena cuja identidade
ignoro, mas que deve ser esposa do presidente do departamento de turismo, ou do presidente do golfe clube de Chavoires. Ou, quem sabe? Senhora Sandoz.
Antes de o carro entrar na aléia, Yvonne se vira e acena com o braço para os membros do júri. Acho até que ela manda um beijo a todos.
Eles deliberam em voz baixa. Três professores de natação do Sporting nos pediram delicadamente que nos afastássemos alguns metros, para não infringir o sigilo
da discussão. Os jurados tinham, cada um diante de si, uma folha onde figuravam o nome e o número dos diversos concorrentes. E tinham que pôr uma nota, à medida
que iam passando.
63
Eles rabiscam uma coisa qualquer em pedaços de papel, dobram-nos. Em seguida, fazem uma pilha dos boletins, Hendrickx os arruma e rearruma com as mãozinhas de
manicure que contrastam com a largura de seus ombros e sua grossura. Fica também encarregado do exame. Anuncia nomes e números: Hatmer, 14; Tissot, 16; Roland-Michel,
17; Azuelos, 12; mas é inútil atentar na escuta, não entendo a maioria dos nomes. O homem das ondulações e da boca gulosa inscreve os números numa caderneta. Eles
ainda entretêm um animado conciliábulo. Os mais veementes são Hendrickx, a mulher morena e o homem dos cabelos cinza-azulados. Este sorri sem cessar, para exibir
- suponho - uma carreira de dentes soberbos e lança a sua volta olhares que deseja serem charmosos: rápidas batidas de cílios com as quais busca parecer cândido
e maravilhado com tudo. Boca que avança, impaciente. Um gastrônomo, com certeza. E também o que na gíria se chama de "viciado". Deve existir uma rivalidade entre
ele e Dudu Hendrickx. Eles disputam as conquistas femininas, eu poderia jurar. Mas no momento, afetam o ar grave e responsável de membros de um conselho de administração.
Fouquières, por sua vez, se desinteressa completamente daquilo tudo. Rabisca sua folha de papel, com as sobrancelhas franzidas numa expressão de arrogância irônica.
O que vê? Com que cena do passado sonha? Com sua última entrevista com Lucie Delarue-Mardrus? Hendrickx se inclina para ele, muito respeitoso, e lhe faz uma pergunta.
Fouquières responde sem querer olhá-lo. Depois Hendrickx vai questionar Ganonge (ou Gamange), o "cineasta", sentado à última mesa à direita. Volta na direção
do homem de cabelos cinza-azulados. Eles têm uma breve altercação e os ouço pronunciar diversas vezes o nome "Roland-Michel". Enfim o "cinza-azul ondulado" - chamálo-ei
assim - avança na direção de um microfone e anuncia numa voz glacial:
- Senhoras e senhores, dentro de um minuto vamos dar os resultados desta Taça Houligant de elegância.
64
O mal-estar volta a tomar conta de mim. Tudo se embaça a minha volta. Pergunto-me onde podem estar Yvonne e Meinthe. Esperam no lugar onde os deixei, ao lado da
quadra de tênis? E se tivessem me abandonado?
- Por cinco votos a quatro - a voz do "cinza-azul ondulado" sobe, sobe. - Eu repito: por cinco votos a quatro para nossos amigos Roland-Michel (ele pronunciou nossos
amigos martelando as sílabas e sua voz está agora tão aguda quanto a de uma mulher), conhecidos e apreciados por todos e cujo espírito esportivo quero saudar...
e que teriam merecido - é o que penso, pessoalmente - levar esta taça da elegância... (ele deu um soco na mesa, mas sua voz ficava cada vez mais alquebrada)...
a taça foi concedida (ele faz uma pausa), à senhorita Yvonne Jacquet, que estava acompanhada do senhor René Meinthe... Confesso, eu tinha lágrimas nos olhos.
Eles tinham que se apresentar uma última vez diante do júri e receber a taça. Todas as crianças da praia tinham se reunido aos outros espectadores e esperavam,
superexcitadas. Os músicos da orquestra do Sporting tinham tomado seu lugar habitual, debaixo do grande dossel verde e branco, no meio do terraço. Afinavam os
instrumentos.
O Dodge surgiu. Yvonne estava meio inclinada sobre a capota. Meinthe dirigia lentamente. Ela pulou para o chão e avançou, muito timidamente, até o júri. Aplaudiram
muito.
Hendrickx desceu na direção dela brandindo a taça. Entregou-a a ela e a beijou nas duas bochechas. E depois outras pessoas vieram felicitá-la. O próprio André de
Fouquières apertou sua mão e ela não sabia quem era aquele velho senhor. Meinthe foi ter com ela. Percorria com o olhar o terraço do Sporting e logo me notou.
Gritou: "Victor... Victor" e fez sinais ostensivos para mim. Corri na direção deles. Estava salvo. Gostaria de beijar Yvonne, mas ela já estava cercada. Alguns
serventes,
cada um levando duas bandejas de taças de champanhe,
65
tentavam abrir passagem.A assembléia brindava, bebia, tagarelava sob o sol. Meinthe permanecia a meu lado, mudo e impenetrável atrás dos óculos escuros. A alguns
metros de mim, Hendrickx, muito agitado, apresentava a Yvonne a mulher morena, Gamonge (ou Ganonge) e duas ou três pessoas. Ela pensava em outra coisa. Em mim?
Eu não ousava acreditar.
Todo mundo ficava mais e mais alegre. Riam. Interpelavam-se, comprimiam-se uns contra os outros. O maestro da orquestra dirigiu-se a Meinthe e a mim para saber que
"peça" deveria executar em homenagem à taça e à "charmosa vencedora". Ficamos um instante atrapalhados, mas como provisoriamente eu me chamava Chmara e sentia
o coração cigano, pedi que tocassem Olhos negros,
Uma "noitada" na Sainte-Rose estava prevista, para festejar aquela quinta Taça Houligant e Yvonne, a vencedora do dia. Ela escolheu um vestido delamê ouro velho
para vestir.
Ela tinha posto a taça sobre a mesa de cabeceira, ao lado do livro de Maurois. Aquela taça era, na realidade, uma estatueta representando uma dançarina na ponta
do pé sobre uma pequena base onde tinham gravado em letras góticas: "Taça Houligant. 12 prêmio". Mais embaixo o número do ano.
Antes de ir, ela a acariciou com a mão, depois se pendurou em meu pescoço.
- Você não acha isso maravilhoso? perguntou. Quis que eu pusesse o monóculo e aceitei, pois aquela não era uma noite como as outras.
Meinthe usava um terno verde claro muito suave, muito fresco. Durante todo o trajeto até Voirens, zombou dos membros do júri. O "cinza-azul ondulado"chamava-se
Raoul Fossorié e dirigia o departamento de turismo. A mulher morena era casada com o presidente do clube de golfe de Chavoires: sim, na época, estava flertando
com aquele "boi gordo", o Dudu Hendrickx. Meinthe o detestava. Um personagem. dizia ele, que há trinta anos brincava graciosamente nas pistas de esqui. (Pensei
no herói de Liebesbriefe aufdem Berg, o filme de Yvonne); Hendrickx tinha feito em 1943 as belas noites de L'Équipe e do Chamais de Megève, mas hoje estava
chegando aos cinqüenta e cada vez mais se parecia com um "sátiro". Meinthe pontuava seu discurso com "Não é, Yvonne?" irônicos e carregados de subentendidos.
Por quê? E como Yvonne e ele tinham tanta familiaridade com aquela gente toda?
Quando aparecemos na pérgula da Sainte-Rose, umas palmas fracas saudaram Yvonne. Vinham de uma mesa de cerca de dez pessoas, entre as quais Hendrickx, no trono.
Este nos apontava. Um fotógrafo levantou-se e nos ofuscou com seu flash. O gerente, aquele chamado Pulli, puxava três cadeiras para nós, depois voltava e, com
muito zelo, estendia uma orquídea a Yvonne. Ela agradecia.
- Neste grande dia, a honra é minha, senhorita. E bravo! Ele tinha sotaque italiano. Curvava-se à frente de Meinthe. - Senhor?... - dizia-me ele, o sorriso enviesado,
sem dúvida incomodado por não poder me chamar pelo nome.
- Victor Chmara. - Ah... Chmara...? Aparentava surpresa e franzia as sobrancelhas. - Senhor Chmara...
- Sim. Lançava-me um olhar estranho. - Já já estarei à sua disposição, senhor Chmara... E se dirigia rumo à escada que levava ao bar do térreo. Yvonne estava
sentada ao lado de Hendrickx e nós nos encontrávamos, Meinthe e eu, em frente a eles. Eu reconhecia, entre meus vizinhos, a mulher morena do júri, Tounette e Jackie
Roland-Michel, um homem de cabelos grisalhos muito curtos e de rosto enérgico de ex-aviador ou militar: o diretor do clube de golfe, com certeza. Raoul Fossorié
estava no fim da mesa e mordiscava um palito de fósforo. As três ou quatro outras pessoas, entre as quais duas louras muito bronzeadas, eu estava vendo pela primeira
vez.
67
vv
Não havia muita gente, naquela noite, na Sainte-Rose. Ainda era cedo. A orquestra tocava uma canção que se ouvia muito e cuja letra um dos músicos sussurrava:
L'amour, c'est comme un jour Ça s 'en va, ça s 'en va L'amour
Hendrickx tinha envolvido com o braço direito as espáduas de Yvonne e eu me perguntava aonde queria chegar. Virava-me para Meinthe. Ele se escondia atrás de outro
par de óculos escuros, com armação maciça de tartaruga, e nervosamente tamborilava na tábua da mesa. Eu não ousava lhe dirigir a palavra.
- Então, contente de estar com sua taça? - perguntou Hendrickx com uma voz carinhosa.
Yvonne me lançava um olhar aborrecido. - Foi um pouco graças a mim... Mas claro, aquele devia ser um bom sujeito. Por que eu estava sempre desconfiando do primeiro
que aparecia?
- Fossorié não queria. Hein, Raoul? Você não queria... E Hendrickx caía na gargalhada. Fossorié dava uma tragada no cigarro. Afetava grande calma.
- Nada disso, Daniel, nada disso. Você está enganado... E moldava as sílabas de um modo que eu achava obsceno. "Hipócrita!", exclamava Hendrickx sem maldade alguma.
Essa réplica fazia rir a mulher morena, as duas louras bronzeadas (o nome de uma delas me volta de repente: Meg Devillers) e até o sujeito com cara de ex-oficial
da cavalaria. Os Roland-Michel, por sua vez, esforçavam-se por compartilhar a hilaridade dos outros, mas sem vontade. Yvonne me piscava o olho. Meinthe continuava
tamborilando.
- Seus favoritos - continuava Hendrickx - eram Jackie e Tounette... Hein, Raoul? - Depois, voltando-se para Yvonne:
Você devia apertar a mão dos nossos amigos Roland-Michel, Seus infelizes concorrentes...
68
Yvonne o fez. Jackie ostentava uma expressão jovial, mas Tounette Roland-Michel olhou Yvonne diretamente nos olhos. Parecia estar com raiva dela.
- Um de seus pretendentes? - perguntou Hendrickx. Ele me apontava.
- Meu noivo - respondeu arrogantemente Yvonne. Meinthe levantou a cabeça. A bochecha esquerda e a fenda dos lábios de novo foram tomadas pelos tiques.
- Tínhamos esquecido de lhe apresentar nosso amigo - disse ele numa voz afetada. - O conde Victor Chmara...
Pronunciara "conde" insistindo nas sílabas e fazendo uma pausa. Em seguida, voltando-se para mim:
- O senhor tem diante de si um dos ases do esqui francês: Daniel Hendrickx.
Este sorriu, mas senti que suspeitava das reações imprevisíveis de Meinthe. Com certeza o conhecia de longa data.
- É claro, meu caro Victor, o senhor é jovem demais para que este nome lhe diga alguma coisa - acrescentou Meinthe.
Os outros esperavam. Hendrickx se preparava para receber o golpe com fingida indiferença.
- Suponho que o senhor não era nascido quando Daniel Hendrickx ganhou a modalidade combinada...
- Por que o senhor diz coisas assim, René? - perguntou Fossorié num tom muito doce, muito oleoso, moldando ainda mais as sílabas, a tal ponto que se poderia esperar
que saíssem de sua boca aqueles doces puxa-puxa que se compra nas feiras.
- Eu estava lá quando ele ganhou o slalom e o combinado - declarou uma das louras bronzeadas, a que se chamava Meg Devillers - não faz tanto tempo...
Hendrickx deu de ombros e, como a orquestra tocava os primeiros compassos de uma música lenta, ele aproveitou para convidar Yvonne para dançar. Fossorié os seguiu,
acompanhado de Meg Devillers. O diretor do clube de golfe levou a outra loura bronzeada. E os Roland-Michel, por sua vez, avançaram
69
para a pista. Estavam de mãos dadas. Meinthe curvou-se diante da mulher morena:
- Então, nós também, vamos dançar um pouco... Fiquei sozinho à mesa. Não tirava os olhos de Yvonne e Hendrickx. De longe, ele tinha uma certa presença: media em
torno de um metro e oitenta, 85, e a luz que envolvia a pista azul, com uma pitada de rosa - adocicava seu rosto, apagava dele o empastamento e a vulgaridade.
Ele comprimia Yvonne. O que fazer? Quebrar-lhe a cara? Minhas mãos tremiam. Eu podia, é claro, beneficiar-me do efeito surpresa e lhe assentar um murro no meio
da cara. Ou então, me aproximaria por trás e lhe quebraria uma garrafa no crânio. Para quê? Em primeiro lugar me tornaria ridículo para Yvonne. E, depois, essa
conduta não correspondia a meu temperamento dócil, a meu pessimismo natural e a uma certa frouxidão minha.
A orquestra emendou outra música lenta e nenhum dos casais deixou a pista. Hendrickx apertava Yvonne ainda mais. Por que ela o deixava fazer aquilo? Eu espreitava
por uma piscadela que ela me lançasse às escondidas, um sorriso de conivência. Nada. Pulli, o gordo gerente aveludado, aproximou-se prudentemente de minha mesa.
Ficou bem a meu lado, apoiouse no espaldar de uma das cadeiras vazias. Queria falar comigo. A mim, aquilo aborrecia.
- Senhor Chmara... Senhor Chmara... Por educação, virei-me para ele. - Diga-me, o senhor é parente dos Chmara de Alexandria? Ele se debruçava, o olho ávido, e
entendi por que eu tinha escolhido esse nome, que eu achava que tinha saído de minha imaginação: ele pertencia a uma família de Alexandria, de que meu pai me
falava com freqüência.
- Sim. São meus parentes - respondi. - Então o senhor é originário do Egito? - Um pouco. Ele sorriu emocionado. Queria saber mais sobre isso, e eu poderia ter
lhe falado da vila de Sidi-Birsh onde passei alguns
70
anos da infância, do palácio de Abdine e do albergue das Pyram ides, de que guardo uma lembrança muito vaga. Perguntar-lhe, por outro lado, se ele era parente de
um dos conhecidos de meu pai, aquele Antonio Pulli, que tinha a função de confidente e de "secretário" do rei Faruk. Mas estava por demais ocupado com Yvonne e
Hendrickx.
Ela continuava a dançar com aquele sujeito velhusco que, com certeza, pintava o cabelo. Mas talvez ela o fizesse por uma razão precisa que me revelaria quando
estivéssemos sozinhos. Ou talvez, assim, por nada? E se tivesse me esquecido? Nunca senti muita confiança em minha identidade e o pensamento de que não mais me
reconheceria aflorou em mim. Pulli tinha se sentado no lugar de Meinthe:
- Conheci Henri Chmara, no Cairo... Nós nos encontrávamos todas as noites no Chez Groppi ou no Mena House.
Dir-se-ia que me confiava segredos de estado. - Espere... foi no ano em que o rei estava com aquela cantora francesa... Sabe?...
- Ah, sim... Falava cada vez mais baixo. Temia policiais invisíveis. - E o senhor, morou lá?... Os projetores que iluminavam a pista lançavam somente uma fraca
luz cor-de-rosa. Um instante, perdi de vista Yvonne e Hendrickx, mas voltaram a aparecer atrás de Meinthe, Meg Devillers, Fossorié e Tounette Roland-Michel. Esta
fez um comentário por cima do ombro do marido. Yvonne caiu na gargalhada.
- O senhor entende, não se pode esquecer o Egito... Não... Há noites em que me pergunto o que estou fazendo aqui...
Eu também, de repente me fazia aquela pergunta. Por que não fiquei nos Tilleuls lendo meus livros e minhas revistas de cinema? Ele pousou a mão no meu ombro.
-Não sei o que daria para estar na varanda do Pastroudis... Como esquecer o Egito?
- Nem deve existir mais - murmurei.
- O senhor acha mesmo? Lá, Hendrickx se aproveitava da meia penumbra e lhe passava a mão nas nádegas.
Meinthe voltava para nossa mesa. Sozinho. A mulher morena dançava com outro cavalheiro. Deixou-se cair sobre a cadeira.
- Do que estão falando? - Tinha tirado os óculos escuros e me olhava, sorrindo gentilmente: - Tenho certeza de que Pulli estava lhe contando suas histórias de Egito...
- O senhor Chmara é de Alexandria, como eu - declarou secamente Pulli.
- O senhor, Victor? Hendrickx tentava beijá-la no pescoço, mas ela o impedia. Ela se jogava para trás.
- Pulli tem esta boate há dez anos - dizia Meinthe. - No inverno trabalha em Genebra. Pois nunca conseguiu se acostumar com as montanhas.
Ele tinha notado que eu olhava Yvonne dançar e tentava desviar minha atenção.
- Se vier a Genebra no inverno - dizia Meinthe - vou ter que levá-lo nesse lugar, Victor. Pulli reconstituiu exatamente um restaurante que existia no Cairo. Como
é que se chamava mesmo?
- Le Khédival.
- Quando está lá, ele acha que ainda está no Egito e sente um pouco menos de saudade. Não é, Pulli?
- Montanhas de merda! "Não precisa ter saudade", cantarolava Meinthe. "Saudade jamais. Saudade jamais. Jamais."
Continuavam lá com outra dança; Meinthe se inclinou em minha direção:
Não dê atenção, Victor.
72
Os Roland-Michel reuniram-se a nós. Depois, Fossorié e a loura Meg Devillers. Enfim, Yvonne e Hendrickx. Ela veio sentar-se a meu lado e me segurou a mão. Portanto,
não tinha me esquecido. Hendrickx me examinava com curiosidade.
- Então, o senhor é noivo de Yvonne?
- É - disse Meinthe, sem me deixar tempo para responder. - E se tudo der certo, ela logo vai se chamar condessa Yvonne Chmara. O que acha?
Ele o provocava, mas Hendrickx continuava sorrindo.
- Soa melhor que Yvonne Hendrickx, não? acrescentou Meinthe.
- E o que faz esse moço na vida? perguntou Hendrickx num tom pomposo.
- Nada - disse eu, enfiando o monóculo em torno do olho esquerdo. - NADA, NADA.
- Você, sem dúvida, achava que esse moço fosse professor de esqui ou comerciante, como você? -continuava Meinthe.
- Cale a boca, ou quebro-o em mil pedaços - disse Hendrickx, e não se sabia se era ameaça ou brincadeira.
Yvonne, com a unha do indicador, arranhava a palma de minha mão. Pensava em outra coisa. Em quê? A chegada da mulher morena, de seu marido de rosto enérgico, e
a chegada simultânea da outra loura, nada distenderam a atmosfera. Cada um lançava olhares de viés em direção a Meinthe. O que ia fazer? Insultar Hendrickx? Jogar-lhe
um cinzeiro no rosto? Provocar um escândalo? O diretor do clube de golfe acabou dizendo, em tom de conversa social:
- O senhor continua praticando em Genebra, doutor? Meinthe respondeu com aplicação de bom aluno: - Com certeza, senhor Tessier. - É incrível como o senhor me
lembra seu pai... Meinthe deu um sorriso triste. - Oh. Não. Não diga isso... meu pai era bem melhor que eu. Yvonne apoiava seu ombro contra o meu e esse simples
contato me transtornava. E ela, quem era o pai dela? Se Hendrickx lhe tinha simpatia (ou melhor, se a apertava demais
73
ao dançar), eu notava que Tessier, sua mulher e Fossorié não prestavam atenção alguma nela. Os Roland-Michel também não. Cheguei a surpreender uma expressão de
divertido desprezo da parte de Tounette Roland-Michel depois que Yvonne apertou sua mão. Yvonne não pertencia ao mesmo mundo que eles. Ao contrário, pareciam
considerar Meinthe como igual e demonstravam para com ele certa indulgência. E eu? Não era, aos olhos deles, apenas um teenager ardendo de rock and roll? Talvez
não. Minha seriedade, meu monóculo e meu título nobiliário os intrigavam um pouco. Sobretudo a Hendrickx.
- O senhor foi campeão de esqui?- perguntei. - Foi - disse Meinthe - mas isso perde-se na noite dos tempos.
- Imagine - me disse Hendrickx , pousando a mão em meu antebraço - que conheci esse fedelho - ele apontava para Meinthe - quando ele tinha cinco anos. Ele brincava
de boneca.
Felizmente, estourou um cha-cha-cha naquele instante. Passava da meia-noite e os clientes chegavam às pencas. Acotovelavam-se na pista de dança. Hendrickx chamou
Pulli de longe:
- Vá nos buscar champanhe e avisar a orquestra. Piscava o olho para Pulli, que respondia com uma saudação vagamente militar, com o indicador acima da sobrancelha.
-Doutor, o senhor acha que aspirina é recomendável para problemas circulatórios? - perguntava o diretor do clube de golfe. Li algo no gênero na Ciência e Vida.
Meinthe não tinha escutado. Yvonne apoiava a cabeça em meu ombro. A orquestra parou. Pulli trazia uma bandeja, com taças e duas garrafas de champanhe. Hendrickx
se levantava e agitava o braço. Os casais que dançavam e os outros clientes voltaram-se para nossa mesa:
- Senhoras e senhores - clamava Hendrickx -, vamos beber à saúde da feliz ganhadora da Taça Houligant, senhorita Yvonne Jacquet.
Fazia sinal para Yvonne se levantar. Estávamos todos de
74
pé. Brindamos e como eu sentia os olhares fixos sobre nós, simulei um acesso de tosse.
- E agora, senhoras e senhores - continuou Hendrickx num tom enfático -, peço-lhes palmas para a jovem e deliciosa Yvonne Jacquet.
Ouviam-se "bravos" detonando a toda volta. Ela se comprimia de encontro a mim, intimidada. Meu monóculo tinha caído. Os aplausos se prolongavam e eu não ousava
me mover um centímetro. Fixava, diante de mim, a cabeleira volumosa de Fossorié, suas sábias e múltiplas ondulações que se entrecruzavam, aquela curiosa cabeleira
azul-cinza que se assemelhava a um elmo trabalhado.
A orquestra retomou a música interrompida. Um cha-chacha muito lento, em que se reconhecia o tema de Abril em Portugal.
Meinthe se levantou: - Se o senhor não vê inconveniente, Hendrickx (ele o chamava de senhor pela primeira vez), vou deixá-lo, bem como a esta elegante companhia.
- Voltou-se para Yvonne e para mim: - Levo vocês?
Respondi um "sim" dócil. Yvonne levantou-se, por sua vez. Apertou a mão de Fossorié e do diretor de golfe, mas não ousava mais cumprimentar os Roland-Michel nem
as duas louras bronzeadas.
- E para quando é esse casamento? perguntou Hendrickx, apontando para nós.
- Logo que tivermos deixado este sujo vilarejo francês de merda - respondi, muito rapidamente. Todos me olharam de boca aberta.
Por que falei de maneira tão estúpida e grosseira de um vilarejo francês? Ainda me pergunto e peço desculpas. Até Meinthe pareceu magoado por ter escutado aquilo
de mim.
- Vem - disse Yvonne, pegando-me pelo braço.
75
Hendrickx perdeu a voz e me examinou com os olhos arregalados. Sem querer, empurrei Pulli.
- O senhor está indo embora, senhor Chmara? Ele tentava me segurar, apertando-me a mão.
- Vou voltar, vou voltar disse a ele. - Oh, sim, por favor. Voltaremos a falar de todas essas coisas...
E fazia um gesto evasivo. Atravessamos a pista. Meinthe andava atrás de nós. Graças a um jogo de projetores, parecia que caía neve, em flocos grossos, sobre os
casais. Yvonne me levava e tínhamos dificuldade de abrir caminho.
Antes de descer a escada, quis dar uma última olhada na direção da mesa que deixamos.
Toda minha raiva tinha se dissipado e eu lamentava ter perdido o controle.
- Você vem? - disse Yvonne. - Você vem? - Em que está pensando, Victor? - perguntou Meinthe, e me batia no ombro.
Eu permanecia ali, no início da escada, hipnotizado outra vez pela cabeleira de Fossorié. Ela brilhava. Ele devia untá-la com uma espécie de Bakerfix fosforescente.
Quantos esforços e paciência para construir, toda manhã, aquela montagem cinza-azul.
No Dodge, Meinthe disse que tínhamos perdido burramente nossa noite. A culpa caía sobre Daniel Hendrickx que tinha recomendado a Yvonne que viesse com o pretexto
de que todos os membros do júri estariam lá, assim como diversos jornalistas. Nunca se devia acreditar naquele "porcalhão".
- Mas sim, minha querida, você sabe muito bem - acrescentava Meinthe, num tom exasperado. - Pelo menos ele lhe deu o cheque?
- É claro. E eles me revelaram os bastidores dessa noitada tão triunfal: Hendrickx tinha criado a Taça Houligant cinco anos antes.
76
Uma vez sim, outra não, ela era entregue no inverno, em L'Alpe d'Huez ou em Megève. Ele tinha tomado essa iniciativa por esnobismo (escolhia algumas personalidades
da vida social para compor o júri), para cuidar da publicidade (os jornais que falavam da taça citavam Hendrickx, relembrando suas proezas esportivas) e também
por gostar das moças bonitas. Com a promessa de obter a taça, qualquer idiota sucumbia. O cheque era de 800 mil francos. No meio de júri, Hendrickx fazia a lei.
Fossorié bem que gostaria que aquela "taça da elegância" que a cada ano obtinha um vivo sucesso dependesse um pouco mais do departamento de turismo. Daí aquela
rivalidade surda entre os dois homens.
- Pois bem, meu caro Victor - concluiu Meinthe -, o senhor vê como a província é mesquinha.
Ele se virou para mim e me gratificou com um sorriso triste. Nós tínhamos chegado à frente do Casino. Yvonne tinha pedido a Meinthe que nos deixasse lá. Voltaríamos
para o hotel a pé.
- Telefonem para mim amanhã, vocês dois. - Parecia desolado por ficar só. Pendurou-se por cima da porta: - E esqueçam essa noite ignóbil.
Depois deu a partida bruscamente, como se quisesse arrancar-se de nós. Pegou a rua Royale e me perguntei onde passaria a noite.
Durante alguns instantes, admiramos o jato d'água que mudava de cor. Aproximamo-nos o máximo possível e recebemos gotículas sobre o rosto. Empurrei Yvonne. Ela
se debatia gritando. Ela também quis me empurrar de surpresa. Nossas risadas ecoavam pela esplanada deserta.
Lá embaixo, os garçons da Taverne acabavam de arrumar as mesas. Em torno de uma hora da manhã. A noite estava quente e senti uma espécie de embriaguez pensando
que o verão mal começava e que ainda tínhamos à nossa
frente dias e dias para passarmos juntos, para passearmos à noite ou ficarmos no quarto ouvindo o bater felpudo e idiota das bolas de tênis.
77
No primeiro andar do Casino, as janelas envidraçadas estavam iluminadas: a sala de bacará. Percebiam-se vultos. Demos a volta nesse prédio sobre cuja fachada estava
escrito CASINO com letras redondas e passamos da entrada do Brummel, de onde saía música. Sim, naquele verão estavam no ar músicas e canções, sempre as mesmas.
Seguimos a avenida de Albigny pela calçada esquerda, a que ladeia os jardins da prefeitura. Alguns raros automóveis passavam nos dois sentidos. Perguntei a Yvonne
por que ela deixava Hendrickx lhe passar a mão nas nádegas. Ela respondeu que aquilo não tinha a menor importância. Era necessário que fosse gentil com Hendrickx,
pois a tinha feito ganhar a taça e lhe tinha dado um cheque de oitocentos mil francos. Eu disse que em minha opinião devia-se exigir bem mais do que oitocentos
mil francos para se deixar "meter a mão nas nádegas" e que, de todo modo, a Taça Houligant da elegância não tinha interesse algum. Nenhum. Ninguém sabia da existência
dessa taça, com exceção de alguns provincianos desvairados à beira de um lago perdido. Era grotesca, aquela taça. E lastimável. Hein? Em primeiro lugar, o que
se sabia de elegância naquele "buraco saboiano"? Hein? Ela respondeu, numa vozinha afetada, que achava Hendrickx "muito sedutor" e que estava contente de ter dançado
com ele. Eu disse - tentando pronunciar todas as sílabas, sem sucesso, eu comia a metade - que Hendrickx era teimoso e "subserviente" como todos os franceses.
- Mas você também é francês - me disse ela. - Não. Não. Não tenho nada á ver com os franceses. Vocês, os franceses, são incapazes de compreender a verdadeira nobreza,
a verdadeira...
Ela caiu na gargalhada. Eu não a intimidava. Então, declarei - e simulava uma frieza extrema - que no futuro seria de interesse dela não se vangloriar muito da
Taça Houligant de elegância, se não quisesse que rissem dela. Montes de meninas tinham ganho tacinhas ridículas como aquela antes de entrar
78
para a sombra do completo esquecimento. E quantas outras tinham rodado por acaso um filme sem valor, do gênero de Liebesbriefe auf dem Berg... A carreira cinematográfica
delas tinha parado aí. Muitas as chamadas. Poucas as eleitas.
- Você acha que esse filme não tem valor algum? - perguntou ela.
- Acho. Dessa vez, acho que ela sentiu. Andava sem dizer nada. Sentamo-nos no banco do chalé, esperando o funicular. Ela rasgava minuciosamente um velho papel
de cigarro. À medida que ia cortando, punha no chão os pedacinhos de papel, que tinham o tamanho de confetes. Fiquei tão enternecido com a aplicação dela que
lhe beijei as mãos.
O funicular parou antes de Saint-Charles Carabacel. Uma pane, aparentemente, mas àquela hora, ninguém mais iria consertar. Ela estava ainda mais apaixonada do que
de hábito. Pensei que devia me amar pelo menos um pouco. Algumas vezes olhávamos pelo vidro e nos víamos entre céu e terra, com o lago lá embaixo, e os telhados.
O dia vinha chegando.
Saiu, no dia seguinte, um grande artigo na terceira página do Eco da Liberdade.
O título anunciava: "TAÇA HOULIGANT DA ELEGÂNCIA CONCEDIDA PELA QUINTA VEZ".
"Ontem, no final da manhã, no Sporting, uma numerosa platéia acompanhou com curiosidade o desenrolar da quinta Taça Houligant de elegância. Os organizadores, tendo
entregue essa taça no ano passado em Megéve, durante a estação de inverno, preferiram que este ano ela fosse um acontecimento de verão. O sol não faltou ao encontro.
Nunca esteve tão radiante. A maior parte dos espectadores estava em trajes de banho. Notava-se entre eles o Sr. Jean Marchat da Comédie-Française que veio fazer
no teatro do Casino algumas apresentações de Escutem bem, senhores.
"O júri, como de costume, reunia personalidades as mais
79
diversas. Era presidido pelo Sr. André de Fouquières, que de bom grado pôs a serviço da Taça sua longa experiência: pode-se dizer, com efeito, que o Sr. de Fouquières,
tanto em Paris quanto em Deauville, Cannes ou Touquet, participou de e julgou a vida elegante desses últimos cinqüenta anos.
" À sua volta estavam sentados: Daniel Hendrickx, o célebre campeão e promotor da taça; Fossorié, do departamento de turismo; Gamange, cineasta; Sr. e Sra. Tessier,
do clube de golfe; Sr. e Sra. Sandoz, do Windsor; o senhor subprefeito R. A. Roquevillard. Lamentava-se a ausência do dançarino José Torres, que na última hora não
pôde vir.
" A maior parte dos concorrentes honrou a taça; o Sr. e a Sra. Jacques Roland-Michel, de Lyon, de férias, como todos os verões, em sua vila de Chavoires, foram
particularmente notados e vivamente aplaudidos.
" Mas a láurea foi entregue, após diversas rodadas de escrutínio, à senhorita Yvonne Jacquet, de 22 anos, radiante jovem de cabelos ruivos, vestida de branco e seguida
por um impressionante dogue. A senhorita Jacquet, por sua graça e irreverência, deixou no júri uma forte impressão.
" A senhorita Yvonne Jacquet nasceu em nossa cidade e aqui foi educada. Sua família é originária da região. Ela acaba de debutar no cinema, num filme rodado a
alguns quilômetros daqui por um diretor alemão. Desejamos à senhorita Jacquet, nossa compatriota, boa sorte e sucesso.
" Ela estava acompanhada pelo Sr. René Meinthe, filho do doutor Henri Meinthe. Esse nome despertará em algumas pessoas muitas lembranças. O doutor Henri Meinthe,
de antiga cepa saboiana, foi, com efeito, um dos heróis e mártires da Resistência. Uma rua da nossa cidade leva seu nome."
Uma grande fotografia ilustrava o artigo. Tinha sido tirada na Sainte-Rose, justamente no momento em que ali entrávamos. Estávamos de pé, os três, Yvonne e eu um
ao lado do outro, Meinthe, ligeiramente atrás. Embaixo, a legenda indicava: "Senhorita Yvonne Jacquet, Sr. René Meinthe e um de seus
80
amigos, o conde Victor Chmara." O clichê estava muito nítido, apesar do papel jornal. Yvonne e eu tínhamos um ar sério. Meinthe sorria. Nós fixávamos um ponto
no horizonte. Guardei comigo aquela fotografia durante vários anos antes de incluí-la entre outras recordações e, uma noite em que a olhava com melancolia, não
pude me impedir de escrever através dela, com lápis vermelho: "Reis por um dia".
VIII
- Um porto, o mais claro possível, minha pequena - repete Meinthe.
A garçonete não entende. - Claro? - Muito, muito claro. Mas disse isso sem convicção. Passa a mão sobre as bochechas mal barbeadas. Há 12 anos, barbeava-se
duas ou três vezes por dia. No fundo do porta-luvas do Dodge ficava um barbeador elétrico mas, dizia, esse aparelho de nada lhe servia, de tão dura que era sua
barba. Chegava a quebrar com ela as lâminas extra-azuis.
A garçonete retorna, com uma garrafa de Sandeman, e lhe serve um copo:
- Não tenho porto... claro. Cochichou "claro", como se tratasse de uma palavra vergonhosa.
- Não tem problema, minha pequena - responde Meinthe.
E ele sorri. Rejuvenesceu de repente. Sopra no copo e observa as listras na superfície do porto.
- Não teria um canudo, minha pequena?
82
Ela traz 'de má vontade, com o rosto emburrado. Não tem mais do que vinte anos. Deve dizer-se: "Até que horas esse bêbado vai ficar aqui? E o outro, lá no fundo,
com seu paletó xadrez?" Como todas as noites às 11 horas, ela acaba de substituir Geneviève, aquela que já encontrava lá no início dos anos sessenta e que, durante
o dia, tomava conta do bar do Sporting, perto das cabines. Uma loura graciosa. Tinha, ao que parece, um sopro no coração.
Meinthe voltou na direção do homem de casaco xadrez. Aquele paletó é o único elemento pelo qual pode atrair atenção sobre si. Fora isso, tudo é medíocre em seu
rosto: bigodinho preto, nariz bastante grande, cabelos castanhos puxados para trás. Ele que, um instante antes, tinha aparência de bêbado, mantém-se muito ereto,
com uma expressão de suficiência no canto dos lábios:
- Pode me pedir... a voz está pastosa e hesitante - o 233 em Chambéry...
A garçonete disca o número. Alguém responde do outro lado da linha. Mas o homem de casaco xadrez permanece, todo ereto, à mesa.
- Senhor, estou com a pessoa ao telefone - inquieta-se a garçonete.
Ele não se move um milímetro. Tem os olhos grandes abertos e o queixo ligeiramente para a frente.
- Senhor... Ele parece de mármore. Ela desliga. Deve estar começando a ficar inquieta. Esses dois clientes são mesmo estranhos... Meinthe acompanhou a cena de
sobrancelhas franzidas. Ao final de alguns minutos, o outro recomeça, numa voz ainda mais surda:
- Por favor, quer pedir... Ela dá de ombros. Então Meinthe se debruça sobre o telefone e disca ele mesmo o número. Quando escuta a voz, empurra o aparelho na direção
do homem de paletó xadrez, mas este não faz um movimento. Fixa Meinthe com os olhos grandes abertos.
83
- Vamos, senhor... - murmura Meinthe. - Vamos... Ele acaba pondo o aparelho no bar e sacode os ombros. - A senhora talvez esteja com vontade de ir dormir, minha
pequena - diz ele à garçonete. - Não quero lhe prender.
- Não. De todo modo, aqui fecha às duas da manhã... vai vir gente.
- Gente? - Está havendo um congresso. Eles vêm para cá. Ela se serve um Copo Coca-Cola. - Não é muito alegre aqui no inverno, hein? - constata Meinthe.
- Eu vou-me embora para Paris - ela diz, num tom agressivo.
- A senhora tem razão. O outro, atrás, estalou os dedos. - Eu queria outro dry, por favor - e depois acrescenta -, e o número 233 em Chambéry...
Meinthe disca outra vez o número e, sem se virar, põe o aparelho de telefone ao lado dele, num tamborete. A menina solta uma risada doida. Ele ergue a cabeça e
seus olhos pousam nas velhas fotografias de Émile Allais e de James Couttet, em cima das garrafas de aperitivos. Juntaram a elas uma fotografia de Daniel Hendrickx,
que morreu, há alguns anos, num acidente de automóvel. Com certeza uma iniciativa de Geneviève, a outra garçonete. Ela era apaixonada por Hendrickx no tempo em
que trabalhava no Sporting. No tempo da Taça Houligant.
84
IX
Essa taça, onde se encontra agora? No fundo de que estante? De que quarto de despejo? Nos últimos tempos, servia de cinzeiro. A base que sustentava a bailarina
tinha uma borda circular. Ali apagávamos nossos cigarros. Devemos tê-la esquecido no quarto do hotel e me surpreendo, eu, que sou ligado aos objetos, de não tê-la
trazido.
No início, no entanto, Yvonne parecia apreciá-la. Pôs bem em evidência na escrivaninha do salão. Era o princípio de uma carreira. Em seguida viriam as Victoires
e os Oscars. Mais tarde, viria a falar dela com carinho diante dos jornalistas - pois para mim não havia a menor dúvida de que Yvonne ia se tornar estrela de cinema.
Enquanto esperávamos, tínhamos pregado no banheiro o grande artigo do Eco da Liberdade.
Passávamos os dias no ócio. Levantávamo-nos bastante cedo. De manhã, freqüentemente havia bruma - ou melhor, um vapor azul que nos libertava das leis da gravidade.
Éramos tão leves, tão leves... Quando descíamos o bulevar Carabacel, mal tocávamos a calçada. Nove horas. O sol logo iria dissipar aquela bruma sutil. Nenhum
cliente, ainda, na praia do Sporting. Éramos os únicos seres vivos com um dos meninos do banho, vestido de branco, que cuidava das espreguiçadeiras e dos
85
guarda-sóis. Yvonne usava um maiô duas peças cor de opala e eu tinha tomado emprestada sua saída. Ela se banhava. Eu a olhava nadar. O cachorro também a seguia
com
os olhos. Ela me acenava e gritava, rindo, para que eu fosse ter com ela. Eu me dizia que aquilo tudo era muito bonito e que amanhã uma catástrofe ia acontecer.
No dia 12 de julho de 39, eu pensava, um sujeito do meu tipo, vestido de saída de banho com listras vermelhas e verdes, olhava sua noiva nadar na piscina do EdenRoc.
Ele tinha medo, como eu, de escutar rádio. Mesmo aqui, no cabo de Antibes, não escaparia da guerra... Em sua cabeça acotovelavam-se nomes de refúgios, mas não
teria tempo para desertar. Durante alguns segundos um terror inexplicável me invadia e depois ela saía da água e vinha deitar-se a meu lado para tomar um banho
de sol.
Por volta das 11 horas, quando as pessoas começavam a invadir o Sporting, refugiávamo-nos numa espécie de pequeno ancoradouro. Chegava-se ali da varanda do restaurante
por uma escada desmoronada que datava do tempo do senhor GordonGramme. Em baixo, uma praia de seixos e pedras; um chalé minúsculo, de uma só peça, com janelas,
postigos. Na porta tremulante, duas iniciais gravadas na madeira, em letras góticas: G-G - Gordon-Gramme - e a data: 1903. Com certeza, ele mesmo tinha construído
aquela casa de boneca e vindo recolher-se ali. Delicado e previdente Gordon-Gramme. Quando o sol batia muito forte, ficávamos uns instantes lá dentro. Penumbra.
Uma réstia de luz no umbral. Um ligeiro odor de mofo pairava, a que acabamos nos acostumando. Ruído- de ressaca, tão monótono e tranqüilizante como o das bolas
de tênis. Fechávamos a porta.
Ela se banhava e se esticava ao sol. Eu preferia a sombra, como meus ancestrais orientais. No início da tarde, voltávamos a subir ao Hermitage, e não deixávamos
o quarto, até as sete ou oito horas da noite. Havia uma sacada muito grande, no meio da qual Yvonne se deitava. Eu me instalava ao lado dela, com
86
um chapéu de feltro "colonial" branco - uma das raras lembranças que eu guardava de meu pai e de que eu gostava ainda mais porque estávamos juntos quando o comprou.
Foi na Sport e Climat, na esquina do bulevar Saint-Germain e da rua SaintDominique. Eu tinha oito anos e meu pai se preparava para viajar para Brazzaville. O que
ia fazer lá? Nunca me disse.
Eu descia ao saguão para buscar revistas. Por causa da clientela estrangeira, encontrava-se a maioria das publicações da Europa. Eu comprava todas: Oggi, Life,
Cinéronde, Der Stern, Confidential... Lançava um olhar oblíquo às manchetes dos diários. Coisas graves aconteciam na Argélia e também na metrópole e no mundo.
Eu preferia não saber. Dava nó na garganta. Desejava que não se falasse demais dessas coisas nas revistas ilustradas. Não. Não. Evitar os assuntos importantes.
De novo, o pânico me tomava. Para me acalmar, virava um Alexandra no bar e tornava a subir com minha pilha de revistas. Nós as líamos, espojando-nos na cama ou
no chão, diante da porta da sacada aberta, entre as manchas douradas que faziam os últimos raios de sol. A filha de Lana Turner tinha matado com uma facada o
amante da mãe. Errol Flynn morreu de ataque cardíaco e à jovem amiga que lhe perguntava onde podia jogar a cinza do cigarro, teve tempo de apontar a bocarra aberta
de um leopardo empalhado. Henri Garat tinha morrido, como um mendigo. E o príncipe Ali Khan também, num acidente de automóvel para os lados de Suresnes. Não me
lembro mais dos acontecimentos felizes. Recortávamos algumas fotografias e as pregávamos nas paredes do quarto. A direção do hotel não parecia se importar.
Tardes vazias. Horas lentas. Yvonne usava freqüentemente um robe de seda preto com bolas vermelhas, furado em alguns pontos. Eu esquecia de tirar meu velho chapéu
de feltro "colonial".
As revistas, meio rasgadas, cobriam o chão. Flocos de âmbar solar caíam por toda parte. O cachorro deitava atravessado numa poltrona. E nós púnhamos discos para
tocar no velho Teppaz. Esquecíamos de acender as lâmpadas.
87
Embaixo, a orquestra começava a tocar e chegavam os que iam jantar. Entre duas músicas, ouvíamos os murmúrios das conversas. Uma voz se destacava daquele zumbido
- voz de mulher - ou gargalhada. E a orquestra recomeçava. Eu deixava aberta a porta da sacada para que aquele zunzunzum e aquela música subissem até nós. Eles
nos protegiam. E além disso, tinham início todo dia à mesma hora e isso queria dizer que o mundo continuava a girar. Até quando?
A porta do banheiro recortava um retângulo de luz. Yvonne se maquiava. Eu, apoiado no balcão, observava aquela gente toda (a maioria em traje de noite), o vaivém
dos garçons, os músicos, de quem acabei conhecendo cada careta. Assim, o maestro se inclinava, com o queixo quase colado no peito. E quando a música acabava,
levantava bruscamente a cabeça, boca aberta, como um homem que estivesse se sufocando. O violinista tinha um rosto amável, um tanto porcino; fechava os olhos e
balançava a cabeça sorvendo o ar.
Yvonne estava pronta. Eu acendia uma lâmpada. Ela sorria para mim e fazia um olhar misterioso. Por divertimento, tinha vestido luvas negras que subiam até a metade
do braço. Estava de pé em meio à desordem do quarto, a cama desfeita, os robes e vestidos espalhados. Saíamos na ponta dos pés evitando o cão, os cinzeiros, o
toca-discos e os copos vazios.
Tarde da noite, quando Meinthe nos tinha levado ao hotel, escutávamos música. Nossos vizinhos mais próximos diversas vezes reclamaram do barulho que fazíamos.
Tratava-se de um industrial lionês - soube disso pelo porteiro - e sua mulher, que vi apertando a mão de Fossorié depois da Taça Houligant. Mandei entregarem
lá um buquê de peônias com este bilhete: "O conde Chmara, desolado, envia-lhes flores."
Quando voltávamos, o cão soltava gemidos queixosos e regulares e aquilo durava em torno de uma hora. Impossível
acalmá-lo. Então preferíamos pôr música para cobrir a voz dele. Enquanto Yvonne se despia e tomava um banho, eu lia para ela algumas páginas do livro de Maurois.
Não desligávamos o tocadiscos, que difundia uma canção frenética. Eu escutava vagamente os socos do industrial lionês na porta de comunicação e a campainha do
telefone. Ele deve ter avisado ao porteiro noturno. Talvez acabassem nos expulsando do hotel. Melhor. Yvonne tinha vestido sua saída de praia e preparávamos uma
refeição para o cachorro (para isso tínhamos uma pilha inteira de latas de conserva e até um escalfador). Esperávamos que depois de ter comido, se calasse. Conseguindo
vencer a voz estridente do cantor, a mulher do industrial lionês berrava: "Mas faça alguma coisa, Henri, faça alguma coisa. TELEFONE PARA A POLÍCIA..."A varanda
deles justapunha-se à nossa. Tínhamos deixado a porta da sacada aberta e o industrial, cansado de bater na parede, insultava-nos de fora. Yvonne então tirava o
roupão e saía na varanda, completamente nua, depois de ter posto as longas luvas negras. O outro a fixava, afogueado. A mulher o puxava pelo braço. Ela gritava:
"Ah, nojentos... puta..." Nós éramos jovens.
E ricos. A gaveta da mesa-de-cabeceira dela transbordava de cédulas. De onde vinha aquele dinheiro? Eu não ousava perguntar. Um dia, como estava arrumando os maços
um ao lado do outro, para poder fechar a gaveta, ela me explicou que era o cachê do filme. Tinha exigido que lhe pagassem em espécie e em notas de cinco mil francos.
Acrescentou que tinha recebido o cheque da Taça Houligant. Mostrava um pacote, embrulhado em papel jornal: oitocentas notas de mil francos. Preferia as notas
pequenas.
Ela gentilmente se propôs a me emprestar dinheiro, mas declinei da oferta. Estavam ainda no fundo das minhas malas oitocentos ou novecentos mil francos. Aquela
quantia eu tinha ganho vendendo a um livreiro de Genebra duas edições "raras" compradas em Paris por uma bagatela, numa loja de trocas.
89
Troquei, na recepção, as notas de cinqüenta mil francos por outras de quinhentos francos, que transportei numa bolsa de praia. Virei tudo em cima da cama. Ela
juntou as notas dela, formando uma pilha impressionante. Ficávamos maravilhados com aquele volume de notas que não tardaríamos a gastar. E eu reencontrava nela
meu gosto pelo dinheiro vivo, quero dizer, dinheiro ganho facilmente, maços que forram os bolsos, dinheiro louco que escorre pelos dedos.
Depois que o artigo saiu, eu fazia perguntas sobre a infância dela naquela cidade. Ela evitava responder, sem dúvida porque queria permanecer mais misteriosa e tinha
um pouco de vergonha de sua origem "modesta" nos braços do "conde Chmara". E, como minha verdade a tinha decepcionado, eu lhe contava as aventuras de meus parentes.
Meu pai tinha deixado a Rússia muito novo, com a mãe e as irmãs, por causa da Revolução. Passaram algum tempo em Constantinopla, Berlim e Bruxelas antes de se
instalar em Paris. Minhas tias foram modelos de Schiaparelli para ganhar a vida como muitas russas belas, nobres e brancas. Meu pai, aos 25 anos, partiu de veleiro
para a América onde se casou com a herdeira das lojas Woolworth. Depois divorciou-se, obtendo colossal pensão alimentar. De volta à França, conheceu mamãe, artista
irlandesa do music-hall. Eu nasci. Todos dois desapareceram a bordo de um avião de turismo, para os lados do Cap-Ferrat, em julho de 49. Eu tinha sido educado
por minha avó, em Paris, num apartamento térreo da rua Lord-Byron. Era isso.
Ela acreditava em mim? Pela metade. Ela tinha necessidade, antes de dormir, que eu lhe contasse histórias "maravilhosas" cheias de gente famosa e artistas de cinema.
Quantas vezes lhe descrevi os amores de meu pai e da atriz Lupe Velez na vila em estilo espanhol em Beverly Hills? Mas quando eu queria que ela, por sua vez,
me falasse de sua família, me dizia: " Oh... não é interessante..." E era, no entanto, a única coisa que faltava em minha felicidade: o relato de uma infância
e de uma adolescência passadas numa cidade de província. Como lhe
explicar que, a meus olhos de apátrida, Hollywood, os príncipes russos e o Egito de Faruk pareciam sem brilho, desbotados, diante daquele ser exótico e quase
inacessível: uma francesinha?
90
91
Aconteceu uma noite, simplesmente. Ela me disse: "Vamos jantar na casa de meu tio". Estávamos lendo revistas na varanda e a capa de uma delas - lembro-me - mostrava
a atriz de cinema inglesa, Belinda Lee, que tinha morrido num acidente de automóvel.
Vesti de novo meu terno de flanela e como o colarinho de minha única camisa branca estava completamente puído, enfiei uma pólo branca surrada que combinava com
minha gravata do International Bar Fly, azul e vermelha. Tive muito trabalho para dar nó nela porque a gola da pólo era mole demais, mas queria estar com a aparência
cuidada. Enfeitei meu casaco de flanela com um lenço de bolso azul-noite que tinha comprado por causa da cor profunda. Como calçado, hesitava entre os mocassins,
aos frangalhos, alpargatas ou uns Weston quase novos, mas com solas grossas de crepe. Optei por eles, julgando-os mais dignos. Yvonne me suplicou que eu pusesse
o monóculo: aquilo intrigaria o tio dela e ele me acharia "engraçado'. Mas eu justamente não queria isso de jeito nenhum. Desejava que aquele homem me visse como
eu era de verdade: um rapaz modesto e sereno.
Ela escolheu um vestido de seda branco e o turbante rosa fúcsia que tinha usado no dia da Taça Houligant. Maquiou-se
92
mais demoradamente do que de hábito. Seu batom era da mesma cor que o turbante. Enfiou as luvas, que subiam até a metade do braço, e eu achei aquilo curioso, para
ir jantar na casa do tio. Saímos, com o cachorro.
No saguão do hotel, algumas pessoas se espantaram com a nossa passagem. O cachorro ia à frente, desenhando seus movimentos de quadrilha. Aquilo acontecia quando
saíamos com ele em horas a que não estava habituado. Tomamos o funicular.
Seguimos a rua do Parmelan que prolonga a rua Royale. À medida que avançávamos, eu descobria uma outra cidade. Deixávamos para trás tudo aquilo que faz o encanto
artificial de uma estação termal, todo aquele pobre cenário de opereta onde um velhíssimo paxá egípcio no exílio acaba dormindo de tristeza. Lojas de alimentos
e de motocicletas substituíam as butiques de luxo. Sim, era curioso o número de lojas de motocicletas. Às vezes havia duas, uma ao lado da outra e, em exposição
na calçada, diversas Vespas de segunda mão. Passamos a estação da estrada. Um ônibus aguardava, com o motor ligado. No flanco, levava o nome da empresa e as etapas:
Sevrier-PringyAlbertville. Chegamos à esquina da rua do Parmelan e da avenida Maréchal-Leclerc. Essa avenida se chamava "MaréchalLeclerc" num pequeno trecho, pois
tratava-se da Nacional 201, que ia para Chambéry. Era ladeada de plátanos.
O cão tinha medo e andava o mais distante possível da estrada. O ambiente do Hermitage convinha melhor a sua silhueta lassa e sua presença na periferia despertava
curiosidade. Yvonne não dizia nada, mas o bairro lhe era familiar. Durante anos e anos fez com certeza o mesmo caminho, de volta da escola ou uma surprise party
na cidade (a expressão surpriseparty não convém. Ela ia ao "baile" ou ao "dancing"). E eu já tinha esquecido o saguão do Hermitage; ignorava aonde íamos, mas aceitava
antecipadamente viver com ela, na Nacional 201. Os vidros de nosso quarto tremiam à passagem dos caminhões
93
pesados, como aquele pequeno apartamento do bulevar Soult onde morei uns meses na companhia de meu pai. Eu me sentia leve. Só os sapatos novos me incomodavam um
pouco no calcanhar.
A noite tinha caído e, de cada lado, residências de dois ou três andares montavam guarda, pequenos prédios pintados de branco e com charme colonial. Prédios assim
existiam no bairro europeu em Túnis e até em Saigon. De espaço a espaço, uma casa em forma de castelo no meio de um jardim minúsculo me lembrava que nos encontrávamos
em Haute-Savoie.
Passamos na frente de uma igreja de tijolo e perguntei a Yvonne como se chamava: São Cristóvão. Gostaria que ela tivesse feito a primeira comunhão ali, mas não
fiz a pergunta, por temor de me decepcionar. Um pouco mais longe, o cinema se chamava Splendid. Com sua fachada bege sujo e portas vermelhas com vigias, parecia-se
com todos os cinemas que se encontra no subúrbio, quando se atravessa as avenidas Maréchalde-Lattre-de-Tassigny, Jean-Jaurès ou Maréchal-Leclerc, bem antes de
se entrar em Paris. Ali também, ela devia ir aos 16 anos. O Splendid mostrava naquela noite um filme da nossa infância: O prisioneiro de Zenda, e imaginei que
estávamos na bilheteria comprando dois ingressos para o balcão. Eu a conhecia por todo o sempre, aquela sala, via suas poltronas de espaldar de madeira e o painel
dos anúncios locais diante da tela: Jean Chermoz, florista, rua Sommeiller, 22. LAV NET, rua do Président-Favre, 17. Decouz, Rádios, TV, Hi-Fi, avenida de Allery,
23... Os cafés se sucediam. Por trás dos vidros do último, quatro rapazes com ondas nos cabelos jogavam totó. Mesas verdes estavam arrumadas ao ar livre. Os clientes
que ali se encontravam examinaram o cachorro com interesse. Yvonne tinha tirado as luvas compridas. Em suma, reencontrava seu ambiente natural e podia-se imaginar
que tinha posto o vestido de seda branco que usava para ir a uma festa nas vizinhanças ou a um baile de 14 de julho.
Ladeamos por quase cem metros uma cerca de madeira
94
escura. Cartazes de todo tipo estavam colados nela. Cartazes do cinema Splendid. Cartazes anunciando a festa da paróquia e a vinda do circo Pinder. Cabeça rasgada
pela metade de Luis Mariano. Antigas inscrições pouco legíveis: Libertem Henri Martin.. . Ridgway go honre... Argélia francesa... Corações partidos por uma flecha
com iniciais. Tinham instalado naquele local postes modernos de cimento, ligeiramente encurvados. Eles projetavam na cerca a sombra dos plátanos e suas folhagens
que sussurravam. Uma noite muito quente. Tirei o casaco. Estávamos diante da entrada de uma imponente garagem. À direita, numa pequena porta lateral, uma placa onde
estava gravado, em letras góticas: Jacquet. E um painel, onde li: "Peças avulsas para veículos americanos".
Ele nos esperava no cômodo do térreo que devia servir ao mesmo tempo de salão e sala de jantar. As duas janelas e a porta envidraçada davam para a garagem, um
imenso hangar.
Yvonne me apresentou indicando meu título nobre. Sentime incomodado, mas fiz parecer que achava aquilo perfeitamente natural. Ele virou-se para ela e perguntou,
num tom rabugento:
- Será que o conde gosta de escalope empanado? - Tinha um sotaque parisiense muito acentuado. - Porque fiz escalope para vocês.
Mantinha, ao falar, o cigarro, ou melhor, seu resto, no canto da boca e franzia os olhos. Sua voz era muito grave, enrouquecida, voz de alcoólatra ou de fumante
inveterado.
- Sentem-se... Ele nos apontou um sofá azulado junto à parede. Depois deu uns passinhos balanceados até à peça contígua: a cozinha. Ouviu-se o ruído de uma frigideira.
Retornou trazendo uma bandeja, que pôs sobre o braço do sofá. Três copos e um prato cheio daqueles biscoitos que chamam de línguas-de-gato. Estendeu os copos, a
Yvonne e a mim. Um líquido vagamente rosado. Sorriu para mim:
- Prove. Um coquetel do barril de Deus. Dinamite. Isso se chama... Dama Rosa... Prove...
95
Umedeci os lábios nele. Engoli uma gota. Logo tossi. Yvonne caiu na gargalhada.
- Você não devia dar isso a ele, titio Roland... Eu estava emocionado e surpreso de ouvi-la dizer titio Roland.
- Dinamite, hein? - disse ele, os olhos brilhando, quase arregalados.
- Tem que se acostumar. Ele se sentou na poltrona, estofada com o mesmo tecido azulado e gasto do sofá. Acariciava o cão, que dormitava a sua frente, e bebia
um gole de seu coquetel.
- Tudo bem? - perguntou ele a Yvonne. - Tudo. Ele balançou a cabeça. Não sabia mais o que dizer. Talvez não quisesse falar diante de alguém que acabava de conhecer.
Esperava que eu desse início à conversa, mas eu estava ainda mais intimidado do que ele e Yvonne nada fazia para desanuviar o mal-estar. Pelo contrário, tirou as
luvas da bolsa e as enfiava lentamente. Ele acompanhava com um olhar de viés aquela operação bizarra e interminável, com a boca um pouco amuada. Houve longos minutos
de silêncio.
Eu o observava às escondidas. O cabelo era castanho e espesso, a pele vermelha, mas grandes olhos negros e cílios muito longos davam àquele rosto pesado algo de
charmoso e lânguido. Devia ter sido bonito na juventude, de uma beleza um tanto rechonchuda. Os lábios, ao contrário, eram finos, espirituais, bem franceses.
Via-se que tinha cuidado da toalete para nos receber. Paletó de tweed cinza muito largo na altura dos ombros; camisa escura sem gravata. Perfume de lavanda. Eu
tentava encontrar nele algum traço de parentesco com Yvonne. Sem sucesso. Mas achava que conseguiria até o final da noite. Eu me poria à frente deles e os espiaria
simultaneamente. Acabaria percebendo algum gesto ou expressão que lhes fosse comum.
- E então, tio Roland, anda trabalhando muito? Ela fez essa pergunta num tom que me surpreendeu. Nele
96
se mesclavam uma ingenuidade infantil e a brusquidão que uma mulher pode ter para com o homem com quem ela vive.
- Oh, sim... essas porcarias de "americanos"... todos esses Studebaker de merda...
- Não têm graça, hein, titio Roland? Dessa vez, poder-se-ia dizer que falava com uma criança. -Não. Principalmente porque nos motores dessas porcarias de Studebaker...
Deixou a frase em suspenso, como se de repente se desse conta de que esses detalhes técnicos poderiam não nos interessar.
- Pois é... E você, tudo bem? - ele perguntou a Yvonne. - Tudo bem?
- Tudo, titio. Ela pensava em outra coisa. Em quê? - Perfeito. Se está, está... E se passássemos para a mesa? Ele tinha se levantado e pousava a mão em meu ombro.
- Ei, Yvonne, está me ouvindo? A mesa estava posta de encontro à porta envidraçada e às janelas que davam para a garagem. Uma toalha de quadrados azul-marinho
e brancos. Copos Duralex. Ele me apontou um lugar: o que eu tinha previsto. Eu estava de frente para eles. No prato de Yvonne e no dele, prendedores de guardanapo
de madeira, com seus nomes, "Roland" e "Yvonne", gravados em letras redondas.
Ele se dirigiu, em seu passo ligeiramente balanceado, para a cozinha e Yvonne aproveitou para me arranhar a palma da mão com a unha. Ele nos trouxe um prato de
salada "niçoise". Yvonne nos serviu.
- O senhor gosta, espero? E depois, dirigindo-se a Yvonne e separando as sílabas: - O con-de gos-ta mes-mo? Não discerni naquilo maldade alguma, mas uma ironia
e uma gentileza bem parisienses. Aliás, eu não entendia por que aquele "saboiano" (eu recordava a frase do artigo que dizia respeito a Yvonne: "Sua família é originária
da região") tinha o sotaque arrastado de Belleville.
97
Não, decididamente, não se pareciam. O tio não tinha a fineza dos traços, as mãos longas e o pescoço delicado de Yvonne. Ao lado dela, parecia mais massudo e taurino
do que quando estava sentado na poltrona. Eu bem que gostaria de saber de onde ela tinha tirado seus olhos verdes e seus cabelos ruivos, mas o infinito respeito
que tenho pelas famílias francesas e seus segredos me impedia de fazer perguntas. Onde estavam o pai e a mãe de Yvonne? Ainda viviam? O que faziam? Continuando
a observá-los com discrição encontrei, no entanto, em Yvonne e em seu tio os mesmos gestos. Por exemplo, o mesmo modo de segurar o garfo e a faca, o indicador um
tanto para a frente, a mesma lentidão para levar o garfo à boca e, por instantes, os mesmos olhos franzidos que lhes dava, a um e outro, pequenas rugas.
- E o senhor, o que faz na vida? - Ele não faz nada, titio. Ela não me deixou tempo para responder. - Não é verdade, senhor balbuciei. Não. Trabalho com... livros.
- ... Livros? Livros? Ele me olhava. O olho incrivelmente vazio. - Eu... Eu... Yvonne me encarava com um sorrisinho insolente. - Eu... eu estou escrevendo um
livro. É isso. Eu estava impressionado com o tom peremptório com que proferi essa mentira.
- O senhor está escrevendo um livro?... Um livro?... - Ele franzia as sobrancelhas e se inclinava um pouco mais em minha direção. - Um livro... policial?
Tinha uma aparência de alívio. Sorria. - Sim, um livro policial - murmurei -, um policial.
Um pêndulo soou na peça vizinha. Carrilhão rasgado, interminável. Yvonne escutava, com a boca entreaberta. O tio me
98
espiava, ele tinha vergonha daquela música intempestiva e degringolada que eu não conseguia identificar. E depois, bastou ele dizer: " O puto do Westminster ainda",
para que eu reconhecesse naquela cacofonia o carrilhão londrino, porém mais melancólico e mais inquietante do que o verdadeiro.
- Esse puto do Westminster ficou completamente louco. Soam as 12 badaladas a toda hora... Vou ficar doente com esse Westminster nojento... Se eu tivesse...
Falava dele como se fosse um inimigo pessoal e invisível.
- Está me escutando, Yvonne? - Mas eu lhe disse que pertencia à mamãe... Basta você me dar ele e não se fala mais disso...
Ele estava muito vermelho, de repente, e temi um acesso de cólera.
- Ele vai ficar aqui, está escutando... Aqui... - Está bem, titio, está bem... - Ela sacudiu os ombros. - Fique com ele, com seu pêndulo... o seu Westminster miniatura...
Virou-se para mim e piscou o olho. Ele, por sua vez, quis me fazer de testemunha.
- O senhor entende. Vai me ficar um vazio se eu não escutar mais essa porcaria de Westminster...
- Ele me lembra a infância - disse Yvonne -, não me deixava dormir...
E a visualizei na cama dela, apertando um urso de pelúcia com os olhos grandes abertos.
Ainda escutamos cinco notas em intervalos irregulares, com os soluços de um bêbado. Depois o Westminster calou-se, dir-se-ia que para sempre.
Respirei profundamente e me virei para o tio: - Ela morava aqui quando era pequena? Pronunciei a frase de uma maneira tão precipitada que ele não entendeu.
- Ele está perguntando se eu morava aqui quando era pequena. Está surdo, titio?
99
- Morava, claro. Lá em cima.
Mostrava o teto com o indicador.
- Vou lhe mostrar meu quarto daqui a pouco. Se ainda existir, hein titio?
- Mas é claro. Não mudei nada. Ele se levantou, pegou nossos pratos e talheres e foi para a cozinha. Voltou com pratos limpos e outros talheres.
- O senhor prefere bem passado? - perguntou.
- Como quiser. - Não. Como o senhor quiser, O SENHOR, conde. Enrubesci.
- Então, decida-se, bem passado ou malpassado? Eu já não conseguia pronunciar a mínima sílaba. Fiz um gesto vago com a mão, para ganhar tempo. Ele estava plantado
a minha frente, de braços cruzados. Examinava-me com uma espécie de estupefação.
- Diga aí, ele é sempre assim? - Sim, titio, sempre. Ele é sempre assim. Ele mesmo nos serviu escalopes e ervilha, especificando que se tratava de "ervilha fresca,
e não conserva". Serviu de beber também, mercurey, um vinho que ele só comprava para convidados "de classe".
- Então acha que é um convidado "de classe"? - perguntou-lhe Yvonne me designando.
- Mas é claro. É a primeira vez na minha vida que janto com um conde. O senhor é conde quem mesmo?
- Chmara - respondeu secamente Yvonne, como se estivesse aborrecida com ele por ter esquecido.
- É o quê esse Chmara? Português?
- Russo - gaguejei. Ele queria saber mais. - Por quê? O senhor é russo? Um cansaço infinito me tomou. Seria preciso de novo contar a Revolução, Berlim, Paris,
Schiaparelli, a América, a herdeira das lojas Woolworth, a avó da rua Lord-Byron... Não. Tive um enjôo.
100
- Está se sentindo mal? Ele pousou a mão em meu braço; era paternal. - Oh, não... Há muito tempo não me sinto tão bem... Pareceu espantado com essa declaração,
ainda por cima pelo fato de que pela primeira vez na noite eu tinha falado claramente.
- Vamos, tome um gole de mercurey...
- Você sabe, titio, você sabe... (ela fazia uma pausa e eu me aprumava, sabendo que o raio ia cair sobre mim) você sabe que ele usa monóculo?
- Ah, é? Não. - Põe o monóculo para mostrar a ele. Ela fez uma voz travessa. Repetiu com uma cantilena: "Põe o monóculo... põe o monóculo..."
Apalpei com a mão trêmula o bolso do paletó e, com lentidão de sonâmbulo, ergui o monóculo até o olho esquerdo. E tentei colocá-lo, mas os músculos não obedeciam
mais. Na terceira tentativa, o monóculo caiu. Eu sentia uma anquilose na altura da bochecha. Da última vez, ele caiu sobre a ervilha.
- Mas que merda - resmunguei. Eu começava a perder meu sangue frio e tinha medo de proferir uma dessas coisas terríveis que ninguém espera de um rapaz como eu.
Mas nada posso fazer, é um acesso que me dá.
- Quer experimentar? - perguntei ao tio, estendendolhe o monóculo.
Ele conseguiu na primeira tentativa, felicitei-o calorosamente. Ficava bem nele. Ele lembrava Conrad Veidt em Nocturno der Liebe. Yvonne morreu de rir. E eu também.
E o tio. Não conseguíamos mais parar.
- Tem de voltar - ele declarou. - Divertimo-nos muito os três. O senhor é muito engraçado.
- Isso é verdade - aprovou Yvonne. - O senhor também, o senhor é "engraçado" - disse eu. Eu quis acrescentar: reconfortante, porque sua presença, sua maneira
de falar, seus gestos me protegiam. Naquela sala
101
de jantar, entre Yvonne e ele, eu não tinha nada a temer. Nada. Eu era invulnerável.
- O senhor trabalha muito? - arrisquei. Ele acendeu um cigarro. - Oh, sim. Tenho que manter tudo isso sozinho... Fez um gesto na direção do hangar, por trás das
janelas. - Há muito tempo? Ele me estendia seu maço de Royales. - Começamos com o pai da Yvonne... Estava aparentemente espantado e tocado por minha atenção
e curiosidade. Não deviam lhe fazer freqüentemente perguntas sobre ele e seu trabalho. Yvonne tinha virado a cabeça e estendia um pedaço de carne ao cachorro.
- Compramos isso da empresa de aviação Farman... Tornamo-nos concessionários da Hotchkiss para toda a região... Trabalhávamos com a Suíça no caso dos carros de
luxo...
Emitia as frases muito depressa e quase à meia-voz, como se temesse que alguém o fosse interromper, mas Yvonne não prestava a menor atenção nele. Falava com o
cachorro e o acariciava.
- Ia bem, com o pai dela... Ele tragava o cigarro, que segurava entre o polegar e o indicador.
- Isso lhe interessa? É tudo passado, tudo... - O que está contando a ele, titio? - Do início da garagem com seu pai... - Mas o está aborrecendo... Havia uma
ponta de maldade na voz dela. - De modo algum - disse eu. - De modo algum. O que aconteceu com seu pai?
Essa pergunta me tinha escapado e eu não podia mais voltar a máquina atrás. Um aborrecimento. Notei que Yvonne franziu as sobrancelhas.
- Albert... Ao pronunciar esse nome, o tio fez um olhar ausente. Depois bufou.
102
- Albert teve uns problemas... Compreendi que não ficaria sabendo de mais nada por ele e me surpreendi por ele já me ter confiado tantas coisas.
- E você? - Ele apoiava a mão contra o ombro de Yvonne. - As coisas estão indo como você quer?
- Estão. A conversa ia atolar. Então, decidi partir para o ataque. - O senhor sabe que ela vai se tornar uma atriz de cinema?
- O senhor acredita mesmo? - Tenho certeza. Ela me soprava com gentileza a fumaça do cigarro no rosto.
- Quando ela me disse que ia fazer um filme, não acreditei. Então é verdade... Você terminou seu filme?
- Terminei, titio. - Quando poderemos vê-lo? - Vai sair dentro de três ou quatro meses - declarei.
- Vai passar aqui? Ele estava cético. - Com certeza. No cinema do Casino - eu falava num tom cada vez mais firme. - O senhor vai ver.
- Então, teremos que comemorar... Diga-me... Acha que é de fato uma profissão?
- Mas é claro. Além disso, ela vai continuar. Vai fazer outro filme.
Eu mesmo estava espantado com a veemência de minha afirmação.
- E vai tornar-se uma estrela de cinema, senhor. - Verdade? - Mas é claro, senhor. Pergunte a ela. - É verdade, Yvonne? Sua voz estava um tanto zombeteira.
- Sim, tudo o que Victor diz é verdade, titio. - O senhor vai ver que tenho razão.
103
Dessa vez, eu usava um tom adocicado, parlamentar, e tinha vergonha disso, mas aquele assunto me era muito caro e para falar dele eu buscava, por todos os meios,
vencer minhas dificuldades de elocução.
- Yvonne tem um enorme talento, acredite. Ela acariciava o cão. Ele me observava, seu resto de Royale no canto dos lábios. De novo, aquela sombra de inquietude,
aquele olhar absorto.
- O senhor acha mesmo que é uma profissão? - A mais bela profissão do mundo, senhor. - Muito bem, espero que você chegue lá - disse ele gravemente a Yvonne. -
Afinal de contas, você não é mais burra do que outra...
- Victor me dará bons conselhos, hein, Victor? Ela me dirigia um olhar terno e irônico. - O senhor soube que ela ganhou a Taça Houligant? - perguntei ao tio.
- Hein?
- Para mim foi uma surpresa, quando li no jornal. - Ele hesitou um instante. - Diga-me, é importante essa Taça Houligant?
Yvonne escarneceu. - Pode servir de trampolim - declarei, limpando meu monóculo.
Ele nos propôs bebermos o café. Sentei-me no velho sofá azulado enquanto Yvonne e ele tiravam a mesa. Yvonne cantarolava transportando os pratos e talheres para
a cozinha. Ele fazia correr a água. O cachorro tinha adormecido a meus pés. Revejo essa sala de jantar com precisão. O papel da parede tinha três motivos: rosas
vermelhas, hera e passarinhos (não sei dizer se eram melros ou pardais). Papel de parede um tanto desbotado, bege ou branco. O lustre circular era de madeira e
munido de uma dezena de lâmpadas com abajur em pergaminho. Luz de âmbar, quente. Na parede um quadrinho sem moldura representava um bosque e admirei a maneira como
o pintor tinha recortado as árvores sobre um céu claro de crepúsculo
104
e a mancha de sol que se demorava ao pé de uma árvore. Esse quadro contribuía para tornar a atmosfera do cômodo mais pacífica. O tio, por um fenômeno de contágio,
que nos faz, quando se escuta uma melodia conhecida, cantá-la também, cantarolava junto com Yvonne. Eu me sentia bem. Gostaria que a noite se prolongasse indefinidamente
para que eu pudesse observar durante horas as idas e vindas deles, os gestos graciosos de Yvonne e seu andar indolente, e o do tio, balanceado. E ouvilos murmurar
o refrão da canção, que eu mesmo não ouso repetir, porque me lembraria o instante tão precioso que vivi.
Ele veio sentar-se no sofá, a meu lado. Buscando continuar a conversa, mostrei-lhe o quadro:
- Muito bonito... - Foi o pai da Yvonne que fez... sim... Aquele quadro devia estar no mesmo lugar há muitos anos, mas ele ainda se maravilhava com a idéia de
que o irmão era o autor.
- Albert tinha uma bela pincelada... O senhor pode ver a assinatura embaixo, à direita: Albert Jacquet. Era um sujeito estranho, meu irmão...
Eu ia formular uma pergunta indiscreta, mas Yvonne saía da cozinha trazendo a bandeja do café. Ela sorria. O cão se espreguiçava. O tio tossia com a ponta do cigarro
na boca. Yvonne se enfiou entre mim e o braço do sofá e pousou a cabeça contra meu ombro. O tio servia o café limpando a garganta e dir-se-ia que rugia. Ele estendia
um açúcar ao cão, que o pegava delicadamente entre os dentes, e eu já sabia que ele não partiria o torrão de açúcar, mas o chuparia, os olhos perdidos no vazio.
Ele jamais mastigava a comida.
Eu não tinha notado uma mesa atrás do sofá, sobre a qual havia um aparelho de rádio de tamanho médio e de cor branca, um modelo a meio caminho entre o aparelho
clássico e o transistor. O tio virou o botão e logo uma música tocou em surdina. Bebíamos, cada um, nosso café, em pequenos goles. O tio de vez em quando apoiava
a nuca contra o espaldar do sofá e fazia
105
argolas de fumaça. Fazia-as bem. Yvonne escutava a música e marcava o compasso com o indicador preguiçoso. Ficamos lá, sem nos dizer nada, como gente que se conhece
desde sempre, três pessoas da mesma família,
- Você devia mostrar a casa para ele - murmurou o tio. Ele tinha fechado os olhos. Levantamo-nos, Yvonne e eu. O cão nos lançou um olhar sorrateiro, levantou-se,
por sua vez, e nos seguiu. Encontrávamo-nos à entrada, ao pé da escada, quando o Westminster soou outra vez, mas de modo mais incoerente e brutal do que da primeira,
tanto que me veio ao espírito a imagem de um pianista doido dando socos e cabeçadas no teclado. O cachorro, aterrorizado, galgou a escadaria e ficou nos esperando
lá em cima. Uma lâmpada pendia do teto e lançava uma luz amarela e fria. O rosto de Yvonne parecia ainda mais pálido em função do turbante rosa e do batom. E eu,
debaixo daquela luz, senti-me inundado de pó de chumbo. A direita, um armário com espelho. Yvonne abriu a porta a nossa frente. Um quarto cuja janela dava para
a Nacional, pois ouvi o barulho abafado de diversos caminhões que passavam.
Ela acendeu a lâmpada de cabeceira. A cama era muito estreita. Aliás, restava apenas o colchão. Em torno dele corria uma prateleira e o conjunto formava um cosy
comer. No canto esquerdo, uma pia minúscula encimada por um espelho. Contra a parede um armário de madeira branco. Ela sentou-se na beira do colchão e me disse:
- Este era meu quarto. O cachorro tinha se instalado no meio de um tapete tão gasto que já não se distinguiam seus motivos. Levantou-se ao cabo de um instante
e saiu do quarto. Eu escrutinei as paredes, inspecionei as prateleiras, esperando descobrir um vestígio da infância de Yvonne. Fazia muito mais calor do que nas
outras peças e ela tirou o vestido. Deitou-se atravessada no colchão. Estava usando ligas, meias, sutiã, tudo aquilo com que as mulheres ainda se estorvavam. Abri
o armário de madeira branca. Talvez houvesse algo lá dentro.
106
- O que está procurando? perguntou ela, apoiando-se nos cotovelos.
Ela franzia os olhos. Reparei numa pequena pasta no fundo da prateleira. Peguei-a e me sentei no chão com as costas apoiadas no colchão. Ela pousou o queixo no
oco de meu ombro e me soprou no pescoço. Eu abri a pasta, enfiei a mão lá dentro e trouxe um velho lápis pela metade que terminava numa borracha cinzenta. O interior
da pasta soltava um odor repulsivo de couro e também de cera - parecia. Numa primeira noite de férias longas, Yvonne a tinha fechado definitivamente.
Ela apagou a luz. Por que cargas d'água estava eu ao lado dela, sobre aquele colchão, naquele quartinho desativado?
Quanto tempo ficamos lá? Impossível confiar no carrilhão cada vez mais louco de Westminster que tocou três vezes à meianoite com alguns minutos de intervalo. Eu
me levantei e na meia penumbra vi que Yvonne se virava para o lado da parede. Talvez estivesse com vontade de dormir. O cão se encontrava no patamar da escada,
em posição de esfinge, na frente do espelho do armário. Ali se contemplava num tédio soberano. Quando passei, não se moveu. Tinha o pescoço muito reto, a cabeça
ligeiramente erguida, as orelhas em pé. Quando cheguei ao meio da escada, ouvi-o bocejar. E sempre aquela luz fria e amarela que descia da lâmpada e me entorpecia.
Pela porta entreaberta da sala de jantar, saía uma música límpida e gelada, dessas que muitas vezes se escuta no rádio, à noite, e que faz pensar num aeroporto
deserto. O tio escutava, sentado na poltrona. Quando entrei, virou a cabeça em minha direção:
- Tudo bem? - E o senhor? - Comigo, tudo bem - ele respondeu. - E o senhor? - Tudo bem. - Podemos continuar, se quiser... Tudo bem? Ele olhava para mim, com
o sorriso congelado, o olho
107
pesado, como se estivesse diante de um fotógrafo que fosse tirar seu retrato.
Estendeu-me o maço de Royale. Risquei quatro fósforos sem sucesso. Enfim, consegui uma chama que aproximei cuidadosamente da ponta do cigarro. E traguei. Tinha
a impressão de fumar pela primeira vez. Ele me espiava, de sobrancelhas franzidas.
- O senhor não é um trabalhador manual - constatou, muito sério.
- Lamento. - Mas por que, meu velho? Acha que é divertido mexer com motor?
Ele olhava as mãos. - Às vezes, deve dar satisfações - disse eu. - Ah, sim? O senhor acha? - Afinal, é uma bela invenção, o automóvel... Mas ele já não me escutava.
A música acabou e o locutor - tinha entonações ao mesmo tempo inglesas e suíças e eu me perguntava qual era sua nacionalidade - pronunciou essa frase, que me ocorre
ainda, depois de tantos anos, repetir em voz alta quando estou sozinho, passeando: "Senhoras e senhores, termina a emissão da Genève-Musique. Até amanhã. Boa noite."
O tio não fez qualquer gesto para virar o botão do aparelho e como eu não ousava intervir, escutava um chiado contínuo, um ruído de parasitas que terminava se
assemelhando ao barulho do vento nas folhagens. E a sala de jantar era invadida por algo fresco e verde.
- É uma boa menina, Yvonne. Ele soltou uma argola de fumaça bastante bem-feita. - É muito mais que uma boa menina respondi. Ele me fixou diretamente os olhos.
com interesse, como se eu acabasse de dizer algo fundamental.
- E se andássemos um pouco? - propôs. - Minhas pernas estão formigando. Levantou-se e abriu a porta da sacada. - Não tem medo?
Mostrava-me com a mão o hangar, cujos contornos se diluíam na escuridão. Distinguia-se, a intervalos regulares, o pequeno luar de uma lâmpada.
- Assim, o senhor vai visitar a garagem... Mal pus o pé na borda daquele imenso espaço negro, senti um cheiro de essência, cheiro que sempre me emocionou - sem
que eu consiga saber por que razões exatas - cheiro tão doce de se respirar quanto o do éter e do papel prateado que envolveu um tablete de chocolate. Ele tinha
me segurado o braço e andávamos por zonas cada vez mais escuras.
- Sim, Yvonne é uma menina estranha... Ele queria puxar conversa. Girava em torno de um assunto que lhe era caro e que com certeza não tinha abordado com muita
gente. Afinal de contas, talvez o estivesse abordando pela primeira vez.
- Estranha, mas muito atraente - disse eu. E em meu esforço para pronunciar uma frase inteligível, meu timbre estava um tanto alto, uma voz de falsete de uma
afetação inaudita.
- Veja o senhor... - Ele hesitava uma última vez antes de se abrir, apertava meu braço. - Ela lembra muito o pai... Meu irmão era um porra-louca...
Avançamos em linha reta. Eu me acostumava pouco a pouco com a escuridão que uma lâmpada furava a cada vinte metros mais ou menos.
- Ela me deu muita preocupação, Yvonne. Ele acendeu um cigarro. De repente, não o via mais, e como tinha me largado o braço, eu me guiava pela ponta incandescente
de seu cigarro. Ele acelerou o passo e tive medo de perdê-lo.
- Digo-lhe isso porque você tem um jeito bem-educado...
Eu dava uma tossidinha. Não sabia o que responder. - O senhor é de boa família, o senhor... - Oh, não... - eu disse.
109
Ele andava a minha frente e eu seguia com o olhar a ponta vermelha do cigarro. Nenhuma lâmpada nas redondezas. Eu estendia os braços à frente, para não dar de
encontro a uma parede.
- Esta é a primeira vez que Yvonne encontra um moço de boa família...
Riso breve. Numa voz muito surda: - Hein, companheiro? Ele me apertou o braço com muita força, à altura do bíceps. Estava à minha frente. Eu via de novo a ponta
fosforescente do cigarro. Não nos mexíamos.
- Ela já fez tanta bobagem... Ele suspirou. - E agora, com essa história de cinema...
Eu não o via, mas raramente tinha sentido num ser tanta prostração e resignação.
- De nada adianta chamá-la à razão... É como o pai... Como Albert.
Puxou-me pelo braço e retomamos a caminhada. Apertava-me o bíceps cada vez com mais força.
- Estou lhe falando disso tudo porque o acho simpático... e bem-educado...
O ruído de nossos passos ressoava por toda aquela extensão. Não entendi como ele conseguia se orientar no escuro. Se me faltasse, não haveria a menor possibilidade
de eu encontrar o caminho.
- E se voltássemos para casa? eu disse. - O senhor veja, Yvonne sempre quis viver acima dos seus meios... E é perigoso... muito perigoso...
Tinha me soltado o bíceps e, para não perdê-lo, eu apertava entre os dedos a aba de seu paletó. Ele não se incomodava.
- Aos 16 anos se virava para comprar quilos de produtos de beleza...
Ele acelerava a marcha, mas eu continuava segurando a aba de seu paletó.
- Ela não queria freqüentar o pessoal do bairro... Preferia os veranistas do Sporting... Como o pai...
110
Três lâmpadas, uma ao lado da outra, acima de nossas cabeças, ofuscaram-me. Ele bifurcava para a esquerda e acariciava a parede com a ponta dos dedos. O ruído seco
de um interruptor. Uma luz muito forte a nossa volta: o hangar estava inteiramente iluminado por projetores fixos no teto. Parecia ainda mais vasto.
- Desculpe, meu amigo, mas só podíamos acender os projetores aqui...
Encontrávamo-nos no fundo do hangar. Alguns carros americanos alinhados um ao lado do outro, um velho ônibus Chausson com os pneus arrebentados. Eu observava,
à nossa esquerda, um ateliê envidraçado que parecia uma estufa e perto do qual estavam dispostos num quadrado caixotes de plantas verdes. Naquele espaço, tinham
jogado cascalho e a hera subia pelo muro. Havia até mesmo um caramanchão, uma mesa e cadeiras de jardim.
- O que acha da minha baiúca, hein, companheiro? Juntamos as cadeiras à mesa do jardim e nos sentamos um à frente do outro. Ele apoiava os dois cotovelos na mesa,
com o queixo nas palmas das mãos. Parecia exausto.
- É aqui que descanso quando estou cheio de mexer com motor... É o meu jardim...
Ele me apontava os carros americanos e depois o ônibus Chausson, atrás.
- Está vendo essas ferragens ambulantes? Fazia um gesto excessivo, como se caçasse uma mosca.
- É terrível não gostar mais do próprio ofício. Eu esboçava um sorriso incrédulo. - Vamos... - E o senhor, ainda gosta de sua profissão? - Sim - disse eu, sem
saber muito bem de que profissão se tratava.
- Na sua idade, se é cheio de entusiasmo... Ele me envolvia com um olhar terno que me comovia. - Cheio de entusiasmo - repetia à meia voz.
111
Ficamos lá, em torno da mesa do jardim, tão pequenos naquele hangar gigantesco. Os caixotes de plantas, a hera e o cascalho compunham um oásis imprevisto. Protegiam-nos
da desolação ambiente: o conjunto de automóveis na expectativa (um deles tinha uma aba a menos) e o ônibus que apodrecia ao fundo. A luz que os projetores difundiam
era fria, mas não amarela como na escada e no corredor que tínhamos atravessado Yvonne e eu. Não. Ela tinha algo de cinza-azulado, aquela luz. Cinza-azulado gelado.
- O senhor quer hortelã? É só o que tenho aqui... Dirigiu-se ao ateliê envidraçado e voltou com dois copos, a garrafa de menta e uma jarra d'água. Brindamos.
- Há dias, meu velho, em que me pergunto o que estou fazendo nessa garagem...
Decididamente, ele sentia necessidade de desabafar naquela noite.
- É grande demais para mim. Varria com o braço toda a extensão do hangar. - Em primeiro lugar, foi Albert que nos deixou... E depois minha mulher... E agora é
Yvonne...
- Mas ela vem sempre ver o senhor - adiantei. -Não. A senhorita quer fazer filmes... Pensa que é Martine Carol...
- Mas ela vai se tornar uma nova Martine Carol - respondi, numa voz firme.
- Vamos... Não diga bobagens... Ela é preguiçosa demais...
Um gole do refresco de hortelã tinha descido mal e ele se sentia estrangulado. Tossia. Não conseguia mais parar e estava ficando vermelho. Ia com certeza sufocar.
Eu lhe dava grandes tapas nas costas até que a tosse se acalmou. Ergueu para mim os olhos cheios de benevolência.
- Não vamos ficar de mau humor... hein, meu amigo? Sua voz estava mais pesada do que nunca. Completamente rouca. Eu só entendia uma em cada duas palavras, mas era
o suficiente para recuperar o resto.
112
- O senhor é um bom rapaz, meu amigo... E polido... O barulho de uma porta que fechavam bruscamente, barulho muito distante, mas que o eco repercutia. Vinha do
fundo do hangar. A porta da sala de jantar, lá embaixo, a uns cem metros de nós. Reconheci a silhueta de Yvonne, seus cabelos ruivos que lhe caíam até os quadris
quando não os penteava. De onde estávamos ela parecia pequena, uma liliputiana. O cão lhe chegava à altura do peito. Não esquecerei jamais a visão daquela menininha
e daquele molosso que andavam em nossa direção e retomavam aos poucos suas verdadeiras dimensões.
- Ei-la - constatou o tio. - Não vai contar para ela o que eu lhe disse, hein? Isso deve ficar entre nós.
- Mas é claro... Não tirávamos os olhos dela, à medida que ela atravessava o hangar. O cachorro vinha de batedor.
- Aparenta ser tão pequena - observei. - Sim, tão pequena - disse o tio. - É uma criança... difícil...
Ela nos percebia e agitava o braço. Gritava: Victor... Victor..., e o eco desse nome que não era o meu repercutia de um extremo a outro do hangar. Chegava perto
de nós e vinha sentar-se à mesa, entre o tio e eu. Estava um pouco esbaforida.
- Que gentil vir nos fazer companhia - disse o tio. - Quer hortelã? Fresca? Com gelo?
Ele nos servia outra vez um copo para cada um. Yvonne me sorria e como de hábito eu sentia uma espécie de vertigem.
- De quê vocês dois falavam? - Da vida - disse o tio. Ele acendeu um Royale e eu sabia que o manteria no canto da boca até que lhe queimasse os lábios.
- Ele é simpático, o conde... E muito bem-educado. - Oh, sim - disse Yvonne. - Victor é um tipo raro. - Repete - disse o tio. - Victor é um tipo raro. - Acham
mesmo? - perguntei, voltando-me para um e
113
para outro. Eu devia estar com uma expressão bizarra pois Yvonne me beliscou a bochecha e disse, como se quisesse me certificar:
- É sim, você é raro. O tio, por sua vez, encarecia. - Raro, meu velho, raro... O senhor é raro... - Muito bem... Fiquei nisso, mas ainda me lembro de que tinha
a intenção de dizer: "Muito bem, o senhor me concede a mão de sua sobrinha?" Era o momento ideal, penso ainda hoje, para pedi-la em casamento. Sim. Não continuei
minha frase. Ele recomeçou, numa voz cada vez mais áspera:
- Raro, meu velho, raro... raro... raro... O cão enfiou a cabeça no meio das plantas e nos observava. Uma nova vida poderia ter começado a partir daquela noite.
Não deveríamos jamais ter nos separado. Eu me sentia tão bem entre ela e ele, em volta da mesa do jardim, naquele grande hangar que com certeza destruíram depois.
114
XI
O tempo envolveu todas essas coisas num vapor de cores mutantes: ora verde pálido, ora azul ligeiramente rosado. Um vapor? Não, um véu impossível de rasgar que
abafa os ruídos e através do qual eu vejo Yvonne e Meinthe mas não os escuto mais. Temo que seus vultos acabem se esfumando e para ainda conservar deles um pouco
de realidade...
Embora Meinthe fosse poucos anos mais velho do que Yvonne, eles se conheceram muito cedo. O que os aproximou foi o tédio que sentiam os dois de viver naquela pequena
cidade e seus projetos para o futuro. Na primeira oportunidade, pensavam em deixar aquele "buraco" (uma das expressões de Meinthe) que só se animava nos meses
de verão durante a "estação". Meinthe, justamente, acabava de se associar a um barão belga miliardário hospedado no Grand Hôtel de Menthon. O barão logo se apaixonou
por ele e isso não me surpreende pois aos vinte anos Meinthe tinha um certo encanto físico e o dom de divertir as pessoas. O belga não vivia mais sem ele. Meinthe
lhe apresentou Yvonne como sendo sua "irmãzinha".
Foi esse barão quem os tirou do "buraco" e eles sempre falaram dele com uma afeição quase filial. Ele possuía uma grande vila em Cap-Ferrat e alugava permanentemente
uma suíte
115
no hotel do Palais de Biarritz e outra no Beau-Rivage de Genebra. A sua volta gravitava uma pequena corte de parasitas dos dois sexos, que os seguia em todos os
deslocamentos.
Meinthe muitas vezes imitou para mim o andar dele. O barão media cerca de dois metros e avançava a passos rápidos, com as costas muito curvadas. Tinha hábitos
curiosos: no verão, não queria se expor ao sol e ficava o dia todo na suíte do hotel do Palais ou no salão de sua vila do Cap-Ferrat. As vigias e cortinas ficavam
fechadas, a luz acesa e ele obrigava alguns efebos a lhe fazer companhia. Estes acabavam perdendo o belo bronzeado.
Ele tinha oscilações de humor e não suportava a contradição. De repente áspero. E no minuto seguinte, muito terno. Ele dizia a Meinthe, num suspiro: "No fundo,
sou a rainha Elizabeth da Bélgica... coitada, COITADA da rainha Elizabeth, você sabe... E você, acho que você compreende essa tragédia..." Em contato com ele,
Meinthe ficou conhecendo os nomes de todos os membros da família real belga e era capaz de rabiscar em alguns segundos sua árvore genealógica no canto de uma toalha
de papel. Muitas vezes o fez na minha frente porque sabia que me divertia.
Daí data também seu culto à rainha Astrid. O barão era um homem de cinqüenta anos na época. Tinha viajado muito e conhecido montes de pessoas interessantes e
refinadas. Freqüentemente visitava seu vizinho no Cap-Ferrat, o escritor inglês Somerset Maugham, de quem era amigo íntimo. Meinthe lembrava-se de um jantar em
companhia de Maugham. Um desconhecido, para ele.
Outras pessoas menos ilustres, mas "divertidas", freqüentavam assiduamente o barão, atraídas por seus caprichos faustosos. Tinha se formado um bando cujos membros
viviam férias eternas. Naquela época, descia-se da vila do Cap-Ferrat a bordo de cinco ou seis automóveis conversíveis. Ia-se dançar em Juan-les-Pins ou participar
dos "Toros de Fuego" de SaintJean-de-Luz.
116
Yvonne e Meinthe eram os mais novos. Ela mal tinha 16 anos e ele vinte. Gostavam muito deles.
Eu pedi a eles que me mostrassem fotografias, mas nem um nem o outro - era o que diziam - tinham guardado. Além disso, não falavam espontaneamente desse período.
O barão morreu em circunstâncias misteriosas. Suicídio? Acidente de automóvel? Meinthe tinha alugado um apartamento em Genebra. Yvonne morava lá. Mais tarde, ela
começou a trabalhar, na qualidade de modelo, para uma casa de costura milanesa, mas não me deu detalhes a respeito. Meinthe freqüentou nesse intervalo a faculdade
de medicina? Ele me afirmou muitas vezes "que exercia a medicina em Genebra" e toda vez eu tinha vontade de perguntar: que medicina? Yvonne evoluía entre Roma,
Milão e a Suíça. Ela era o que se chamava de modelo volante. Pelo menos foi o que me disse. Tinha conhecido Madeja em Roma, em Milão ou no tempo do bando do barão?
Quando lhe perguntava de que maneira tinham se conhecido e por que acaso ele a havia escolhido para trabalhar no Liebesbriefe auf dem Berg, ela se esquivava da
minha pergunta.
Nem ela nem Meinthe jamais me contaram sua vida em detalhe, mas indicações vagas e contraditórias.
Acabei identificando o barão belga que os tirou da província e os levou para a Côte d'Azur e para Biarritz (eles se recusavam a me dizer o nome dele. Pudor? Vontade
de embaralhar as cartas?). Um dia, procurarei todas as pessoas que faziam parte de seu "bando" e talvez haja uma que se lembre de Yvonne... Irei a Genebra, a
Milão. Conseguirei achar as peças do quebracabeça incompleto que me deixaram?
Quando os conheci, era o primeiro verão que passavam em sua cidade natal há bastante tempo e depois de todos aqueles anos de ausência entrecortados por breves estadas,
sentiam-se estranhos ali. Yvonne me confidenciou que ficaria espantada se soubesse, aos 16 anos, que um dia moraria no Hermitage com a impressão de se encontrar
numa estação de águas desconhecida. No início, eu ficava indignado com esse tipo de coisa.
117
Eu, que tinha sonhado nascer numa pequena cidade de província, não compreendia que se pudesse renegar o local da própria infância, as ruas, as praças e as casas
que compunham a própria paisagem original. O próprio abrigo. E que não se retornasse a ele com o coração batendo. Eu explicava a Yvonne com gravidade meu ponto
de vista de apátrida. Ela não me escutava. Estava deitada na cama com robe de seda furado e fumava cigarros Muratti. (Por causa do nome: Muratti, que ela achava
muito chique, exótico e misterioso. Esse nome ítalo-egípcio me fazia bocejar de tédio porque lembrava o meu.) Eu lhe falava da Nacional 201, da igreja de São Cristóvão
e da garagem de seu tio. E o cinema Splendid? E a rua Royale, que ela devia percorrer aos 16 anos, parando em cada vitrine? E tantos outros lugares que eu ignorava
e que com certeza estavam ligados em seu espírito a recordações? A estação, por exemplo, ou os jardins do Casino. Ela dava de ombros. Não. Aquilo tudo não lhe dizia
mais nada.
No entanto, ela me levou várias vezes a uma espécie de grande salão de chá. íamos lá em torno das duas horas da tarde, quando os veranistas estavam na praia ou
dormiam a sesta. Era preciso seguir as arcadas, depois da Taverne, atravessar uma rua, seguir de novo as arcadas: elas, com efeito, corriam em torno de dois
grandes blocos de edifícios construídos na mesma época que o Casino e que lembravam as residências de 1930 da periferia da XVII circunscrição, bulevares Gouvion-Saint-Cyr,
de Dixmude, de Yser e da Somme. O lugar se chamava Réganne e as arcadas o protegiam do sol. Não tinha terraço como a Taverne. Adivinhava-se que aquele estabelecimento
tinha tido seu momento de glória, mas que a Taverne o havia suplantado. Instalávamo-nos a uma mesa do fundo. A menina da caixa, uma morena de cabelo curto que
se chamava Claude, era amiga de Yvonne. Vinha ter conosco. Yvonne lhe pedia notícias de gente sobre quem eu já a tinha escutado falar com Meinthe. Sim, Rosy cuidava
do hotel de La Clusaz no lugar do pai e Paulo Hervieu trabalhava com antiguidades. Pimpin Lavorel continuava
118
dirigindo feito louco. Acabava de comprar um Jaguar. Claude Brun estava na Argélia. A "Yéyette" tinha sumido...
- E você, tudo indo em Genebra? - perguntava Claude. - Oh, sim, você sabe... tudo indo... tudo indo - respondia Yvonne, pensando em outra coisa.
- Você está em sua casa? - Não. No Hermitage. - No Hermitage? Ela sorria ironicamente. - Você tinha que vir ver o quarto - propunha Yvonne -, é engraçado...
- Ah, sim, eu gostaria de ver... Uma noite dessas... Ela tomava um drinque conosco. A grande sala do Réganne estava deserta. O sol desenhava redes sobre a parede.
Atrás do balcão de madeira escura, um afresco representando o lago e a cadeia de Aravis.
- Aqui agora não tem mais ninguém constatava Yvonne.
- Só velhos - dizia Claude. Ela ria um riso incomodado. - Mudou, hein? Yvonne também forçava o riso. Depois calavam-se. Claude contemplava as unhas, cortadas
muito curtas e pintadas com esmalte laranja. Não tinham mais nada a se dizer. Eu gostaria de lhes fazer perguntas. Quem era Rosy? E Paulo Hervieu? Desde quando
elas se conheciam? Como era Yvonne aos 16 anos? E o Réganne antes de o terem transformado em salão de chá? Mas aquilo tudo não lhes interessava mais, nem a uma,
nem a outra. Em suma, só eu me preocupava com o passado delas de princesas francesas.
Claude nos acompanhava até a porta giratória e Yvonne a beijava. Ainda lhe propunha:
- Venha ao Hermitage quando quiser... Para ver o quarto...
- Está bem, uma noite dessas... Mas nunca veio.
119
Com exceção de Claude e do tio, parecia que Yvonne nada tinha deixado para trás naquela cidade, e eu me espantava de que se pudesse cortar tão depressa as raízes
quando, por acaso, tínhamos em algum lugar.
Os quartos dos "palácios" iludem, nos primeiros dias, mas logo suas paredes e seus móveis taciturnos desprendem a mesma tristeza que os dos hotéis sujos. Luxo insípido,
odor adocicado nos corredores, que não consigo identificar, mas que deve ser mesmo o odor da inquietude, da instabilidade, do exílio e do alarme. Odor que jamais
deixou de me acompanhar. Saguões de hotel onde meu pai marcava encontros comigo, com suas vitrines, seus espelhos e seus mármores e que são apenas salas de espera.
De que, exatamente? Bolores de passaportes Nansen.
Mas nós não passávamos sempre a noite no Hermitage. Duas ou três vezes por semana Meinthe nos pedia que dormíssemos na casa dele. Tinha que se ausentar nessas noites
e me encarregava de atender ao telefone e tomar nota dos nomes e "mensagens". Especificou que o telefone poderia tocar a qualquer hora da noite, sem me revelar
quais eram seus misteriosos interlocutores.
Ele morava na casa que tinha pertencido a seus pais, no meio de um bairro residencial, antes de Carabacel. Pegava-se a avenida de Albigny e virava-se à esquerda,
logo depois da prefeitura. Quarteirão deserto, ruas ladeadas de árvores cujas folhagens formavam abóbadas. Vilas da burguesia local em volumes e estilos variáveis,
conforme o grau de fortuna. A dos Meinthe, na esquina da avenida Jean-Charcot e da rua Marlioz, era bastante modesta comparada às outras. Tinha uma cor azulcinza,
uma varandinha dando para a avenida Jean-Charcot e uma bow window do lado da rua. Dois andares, o segundo com mansarda. Um jardim de chão de cascalho. Uma cerca
de sebe abandonada. E no portão de madeira branca descascado, Meinthe tinha inscrito grosseiramente com tinta preta (foi ele que me contou): "Ville triste".
120
Com efeito, ela não respirava alegria, aquela vila. Não. No entanto, no início achei que o qualificativo "triste" não lhe convinha. E depois acabei compreendendo
que Meinthe tinha razão, se se percebe na sonoridade da palavra "triste" algo de doce e cristalino. Ultrapassado o portão da vila, éramos tomados por uma melancolia
límpida. Entrava-se numa zona de calma e de silêncio. O ar era mais leve. Flutuava-se. Os móveis, sem dúvida, tinham se perdido. Restava apenas um pesado sofá
de couro nos braços do qual eu notava marcas de unhas e, à esquerda, uma biblioteca envidraçada. Ao sentar no sofá, tinha-se, a cinco ou seis metros à frente, a
varanda. O assoalho era claro, mas mal cuidado. Uma lâmpada de louça com abajur amarelo colocado no próprio chão iluminava aquele grande cômodo. O telefone ficava
numa sala ao lado, a que se tinha acesso por um corredor. A mesma falta de móveis. Uma cortina vermelha ocultava a janela. As paredes eram de cor ocre, como as
do salão. Contra a parede da direita, uma cama de armar. Pregados na parede oposta, à altura de uma pessoa, um mapa Taride da África ocidental francesa e uma grande
vista aérea de Dacar, cercada por uma moldura muito fina. Parecia provir de um órgão de turismo. A fotografia meio marrom devia ter uns vinte anos de idade. Meinthe
me contou que seu pai tinha trabalhado algum tempo "nas colônias". O telefone ficava junto à cama. Um pequeno lustre com velas falsas e falsos cristais. Meinthe
dormia ali, acho.
Abríamos a porta da sacada e nos deitávamos no sofá. Ele tinha um cheiro muito particular de couro que só encontrei nele e nas duas poltronas que ornavam o escritório
de meu pai, na rua Lord-Byron. Era no tempo das viagens dele a Brazzaville, no tempo da misteriosa e quimérica Sociedade Africana de Empreendimento, que ele criou,
e sobre a qual não sei grande coisa. O cheiro do sofá, o mapa Taride da A.O.F. e a fotografia aérea de Dacar compunham uma série de coincidências. Em meu espírito,
a casa de Meinthe estava indissoluvelmente ligada à Sociedade Africana de Empreendimento, três palavras que
121
embalaram minha infância. Eu reencontrava o clima da rua Lord-Byron, perfume de couro, penumbra, conciliábulos intermináveis de meu pai com negros muito elegantes
de cabelos brancos... Era por isso que quando ficávamos Yvonne e eu no salão eu tinha a certeza de que o tempo tinha deveras parado?
Nós flutuávamos. Nossos gestos tinham uma lentidão infinita e quando nos deslocávamos era centímetro por centímetro. De rastos. Um movimento brusco teria destruído
o encanto. Falávamos em voz baixa. A noite invadia a sala pela varanda e eu via grãos de poeira estagnarem no ar. Um ciclista passava e eu ouvia o ronronar da
bicicleta durante vários minutos. Também ele progredia centímetro por centímetro. Ele flutuava. Tudo flutuava a nossa volta. Nós nem acendíamos a luz quando a
noite caía. O poste mais próximo, na avenida Jean-Charcot, difundia uma claridade de neve. Nunca sair dessa vila. Nunca deixar essa sala. Deitar no sofá ou talvez
no chão, como fazíamos cada vez com maior freqüência. Eu me espantava por descobrir em Yvonne uma aptidão tamanha para o abandono. Em mim, aquilo correspondia a
um horror ao movimento, uma inquietação em relação a tudo o que se move, que passa e que muda, ao desejo de não mais andar sobre areia movediça, de me fixar em
algum lugar, à necessidade de me petrificar. Mas e nela? Acho que era simplesmente preguiçosa. Como uma alga.
Chegávamos a deitar no corredor e lá permanecer a noite toda. Uma noite, rolamos para o fundo de um quarto de despejo, embaixo da escada que levava ao primeiro
andar e nos vimos prensados entre volumes imprecisos que identifiquei como sendo baús de vime. Mas não, não estou sonhando: nos deslocávamos de rastos. Partíamos
cada um de um ponto oposto da casa e rastejávamos no escuro. Era preciso ser o mais silencioso possível, e o mais lento, para que um dos dois surpreendesse o outro.
Uma vez Meinthe só voltou na noite seguinte. Não tínhamos nos deslocado da vila. Continuávamos esticados no assoalho, à borda da varanda. O cão dormia no meio do
sofá.
Era uma tarde pacífica e ensolarada. As folhas das árvores oscilavam docemente. Uma música militar muito longe. De vez em quando, um ciclista passava pela avenida
num zumbido de asas. Logo não ouvíamos mais ruído algum. Eram abafados por um acolchoado muito macio. Acho que se não fosse a chegada de Meinthe, não teríamos
nos mexido durante dias e dias, morreríamos de fome e de sede, para não ter que sair da vila. Nunca vivi depois momentos tão plenos e tão lentos como aqueles. O
ópio parece produzi-los. Eu duvido.
O telefone tocava sempre depois de meia-noite, à moda antiga, tiritando. Campainha delicada, usada, tocava baixinho. Mas era o suficiente para criar uma ameaça
no ar e rasgar o véu. Yvonne não queria que eu atendesse. "Não vai", ela cochichava. Eu rastejava tateando ao longo do corredor, não encontrava a porta da sala,
apoiava a cabeça contra a parede. E, com a porta aberta, era preciso ainda rastejar até o aparelho, sem qualquer ponto de referência visível. Antes de tirar do
gancho, eu experimentava uma sensação de pânico. Aquela voz - sempre a mesma - aterrorizava-me, dura e ao mesmo tempo ensurdecida por uma coisa qualquer. A distância?
O tempo? (Às vezes, poder-se-ia imaginar que se tratava de uma velha gravação.) Começava, invariavelmente, com:
- Alô, aqui é Henri Kustiker... Está me ouvindo? Eu respondia: "Sim". Uma pausa. - O senhor diga ao doutor que o esperamos amanhã às 21 horas no Bellevue, em
Genebra. O senhor entendeu?...
Eu soltava um sim mais fraco do que o primeiro. Ele desligava. Quando não marcava encontros, confiava-me mensagens:
- Alô, aqui é Henri Kustiker... - Uma pausa. - O senhor diga ao doutor que o comandante Max e Guérin chegaram. Viremos vê-lo amanhã à noite... amanhã à noite...
Eu não tinha força para responder. Ele já desligava. "Henri Kustiker" - toda vez que perguntávamos sobre ele a Meinthe,
123
ele não respondia - tornou-se para nós um personagem perigoso que ouvíamos rondar a vila. Não o conhecíamos de rosto e por isso ele se tornava cada vez mais obcecante.
Eu me divertia aterrorizando Yvonne. Afastava-me dela e repetia no escuro, numa voz lúgubre:
- Aqui é Henri Kustiker... Aqui é Henri Kustiker... Ela berrava. E por contágio, o medo me dominava também. Esperávamos, com o coração batendo, o tiritar do telefone.
Nós nos encolhíamos debaixo da cama de armar. Uma noite ele tocou mas só consegui tirar o aparelho do gancho depois de vários minutos, como naqueles pesadelos
em que todos os nossos gestos têm peso de chumbo.
- Alô, aqui é Henri Kustiker... Eu não conseguia proferir uma única sílaba. - Alô... Está me ouvindo?... Está me ouvindo?... Prendíamos a respiração. - Aqui
é Henri Kustiker, está me ouvindo?... A voz estava cada vez mais fraca. - Kustiker... Henri Kustiker... Está me ouvindo?... Quem era ele? De onde podia estar
telefonando? Um ligeiro murmúrio ainda.
- Tiker... ouvindo... Mais nada. O último fio que nos ligava ao mundo exterior acabava de se romper. Nós nos deixávamos deslizar de novo até as profundezas onde
mais ninguém - eu esperava - viesse nos perturbar.
124
XII
É o terceiro "porto claro" dele. Ele não tira os olhos da fotografia grande de Hendrickx por cima das fileiras de garrafas. Hendrickx na época de seu esplendor,
vinte anos antes daquele verão em que fiquei furioso por vê-lo dançar, na noite da taça, com Yvonne. Hendrickx jovem, magro e romântico - mistura de Mermoz com
o duque de Reichstadt - uma velha fotografia que a menina que tomava conta do botequim do Sporting tinha me mostrado um dia quando eu lhe fazia perguntas sobre
meu "rival". Ele engordou muito depois.
Suponho que Meinthe, ao contemplar aquele documento histórico, tenha acabado sorrindo, com seu sorriso inesperado que jamais exprimia alegria, mas que era uma
descarga nervosa. Pensou na noite em que nos encontrávamos os três na SainteRose, depois da taça? Deve ter contado os anos: cinco, dez, 12... tinha mania de contar
os anos e os dias. "Daqui a um ano e 33 dias será meu vigésimo sétimo aniversário... Faz sete anos e cinco dias que Yvonne e eu nos conhecemos..."
O outro cliente saía, num andar hesitante, depois de ter acertado seus "dry", mas tinha se recusado a acrescentar o preço dos telefonemas, dizendo que não tinha
pedido o "233 em Chambéry". Como a discussão ameaçava prolongar-se até a
125
aurora, Meinthe lhe tinha explicado que acertaria ele próprio o telefone. E que, aliás, tinha sido ele mesmo, Meinthe, quem tinha pedido o 233 em Chambéry. Ele
e somente ele.
Daqui a pouco meia-noite. Meinthe lança um último olhar para a fotografia de Hendrickx e se dirige à porta do Cintra. No momento em que vai sair, dois homens entram,
empurrando-o, e mal se desculpam. Depois três. Depois cinco. Vêm em número cada vez maior, e ainda vêm mais. Cada um deles traz, pregado na parte de trás do casaco,
um pequeno retângulo de papelão em que se lê: "Inter-Touring". Falam muito alto, riem muito alto, dão grandes tapas nas costas. Os membros do "congresso" de que
falava há pouco a garçonete. Um deles, mais cercado de gente do que os outros, fuma cachimbo. Eles fazem reviravoltas em torno dele e o interpelam: "Presidente...
Presidente... Presidente...". Meinthe tenta em vão abrir caminho. Eles recuaram quase para junto do bar. Formam grupos compactos. Meinthe os contorna, procura
um buraco, intromete-se, mas sente outra vez a pressão deles e perde terreno. Transpira. Um deles lhe pôs a mão no ombro, achando, sem dúvida, que se trata de
um "confrade" e Meinthe é logo integrado a um grupo: o do "presidente". Estão comprimidos como na estação Chaussée d'Antin nas horas de pico. O presidente, de
menor estatura, protege o cachimbo envolvendo-o com a palma da mão. Meinthe consegue se soltar daquela confusão, dá uns empurrões com os ombros, umas cotoveladas
e se lança, afinal, contra a porta. Ele a entreabre e desliza para a rua. Alguém sai atrás dele e o repreende:
- Onde vai? O senhor é do Inter-Touring? Meinthe não responde. - O senhor deve ficar. O presidente está oferecendo um "pot"... Vamos, fique...
Meinthe apressa o passo. O outro recomeça, com uma voz suplicante:
- Vamos, fique... Meinthe anda cada vez mais depressa. O outro se põe a gritar:
126
- O presidente vai perceber que está faltando um cara do Inter-Touring... Volte... Volte...
Sua voz soa clara na rua deserta. Mei nthe agora se encontra diante do jato d'água do Casino. No inverno, ele não muda de cor e sobe bem menos do que durante
a "estação". Ele o observa um instante e depois atravessa e segue a avenida de Albigny pela calçada da esquerda. Anda lentamente e faz ligeiros ziguezagues. Dir-se-ia
que flana. De vez em quando, dá um tapinha na casca de um plátano. Ladeia a prefeitura. É claro, pega a primeira rua à esquerda que se chama - se minhas recordações
estão corretas - avenida MacCroskey. Há 12 anos essa fileira de prédios novos não existia. No lugar havia um parque abandonado no meio do qual se erguia uma casa
grande em estilo anglo-normando, desabitada. Ele chega à encruzilhada Pelliot. Nós freqüentemente nos sentamos num dos bancos, Yvonne e eu. Ele pega, à direita,
a avenida Pierre-Forsans. Eu poderia fazer esse caminho de olhos fechados. O bairro não mudou muito. Pouparam-no, por razões misteriosas. As mesmas vilas cercadas
por seus jardins e pequenas sebes, as mesmas árvores dos dois lados das avenidas. Mas faltam as folhas. O inverno dá a tudo isso uma característica desolada.
Eis-nos na rua Marlioz. A vila está na esquina, lá em baixo, à esquerda. Eu a vejo. Eu o vejo, andando num passo ainda mais lento do que há pouco e empurrando com
o ombro o portão de madeira. Você sentou no sofá do salão e não acendeu a luz. O poste, em frente, espalha sua claridade branca.
"8 de dezembro... Um médico de A..., Sr. René Meinthe, 37 anos, suicidou-se na noite de sexta-feira para sábado em seu domicílio. O desesperado tinha aberto o
gás."
Eu contornava - já não sei por quê - as arcadas, rua de Castiglione, quando li essas poucas linhas num jornal vespertino. Le Dauphiné, diário da região, dava mais
detalhes. Meinthe recebia as honras da primeira página, com a manchete: "O
127
SUICÍDIO DE UM MÉDICO DE A...", que remetia para a página 6, a das informações locais:
"8 de dezembro. O doutor René Meinthe suicidou-se, na noite passada, na sua vila, no número 5 da avenida Jean-Charcot. A senhorita B., empregada do doutor, ao
entrar na casa, como toda manhã, foi logo alertada por um cheiro de gás. Era tarde demais. O doutor Meinthe teria deixado uma carta.
Ele tinha sido visto ontem à noite na estação, no momento da chegada do expresso com destino a Paris. Segundo uma testemunha, teria passado algum tempo no Cintra,
rua Sommeiller, 23.
O doutor René Meinthe, depois de ter exercido a medicina em Genebra, tinha voltado há cinco anos a A..., berço de sua família. Aí praticava a osteopatia. Eram conhecidas
suas dificuldades de ordem profissional. Elas explicam seu gesto desesperado?
Ele tinha 37 anos. Era filho do doutor Henri Meinthe, que foi um dos heróis e mártires da Resistência e é nome de uma rua de nossa cidade."
Andei ao acaso e meus passos me conduziram até a praça do Carrousel, que atravessei. Entrei num dos dois pequenos jardins que cercam o palácio do Louvre, na frente
da Cour Carrée. Fazia um doce sol de inverno e crianças brincavam sobre o gramado em declive, ao pé da estátua do general La Fayette. A morte de Meinthe deixaria
para sempre certas coisas na sombra. Assim, eu jamais viria a saber quem era Henri Kustiker. Repeti esse nome em voz alta: Kus-ti-ker, Kus-ti-ker, um nome que
não tinha mais sentido, exceto para mim. E para Yvonne. Mas o que tinha acontecido com ela? O que torna o desaparecimento de um ser mais sensível são as palavras
- a senha - que existiam entre ele e nós e que de repente ficam inúteis e vazias.
Kustiker... Na época, eu tinha feito mil suposições, cada uma mais inverossímil do que a outra, mas a verdade, eu sentia isso, devia ser, também ela, esquisita.
E inquietante. Meinthe,
128
às vezes, nos convidava para tomar chá na vila. Uma tarde, por volta das cinco horas, encontrávamo-nos no salão. Escutávamos a música preferida de René: The Café
Mozart Waltz, cujo disco ele punha e repunha. Tocaram à porta. Ele tentou reprimir um tique nervoso. Eu vi - e Yvonne também - dois homens no patamar da escada
segurando um terceiro com o rosto inundado de sangue. Eles atravessaram rapidamente o vestíbulo e se dirigiram ao quarto de Meinthe. Ouvi um dos dois dizer:
- Dê uma injeção de cânfora. Senão esse porcalhão vai bater as botas em nossas mãos...
Sim. Yvonne escutou a mesma coisa. René veio ter conosco e nos pediu para ir embora no ato. Disse num tom seco: "Depois explico..."
Não nos explicou, mas tinha sido suficiente entrever os dois homens para saber que se tratava de "policiais" ou indivíduos que tinham uma relação qualquer com a
polícia. Alguns fragmentos, algumas mensagens de Kustiker confirmaram essa opinião. Era a época da guerra da Argélia e Genebra, onde Meinthe mantinha seus encontros,
servia como eixo. Agentes de todos os tipos. Polícias paralelas. Redes clandestinas. Nunca entendi nada disso. Que papel desempenhava René naquilo? Diversas vezes
adivinhei que ele gostaria de se abrir comigo, mas sem dúvida me julgava jovem demais. Ou simplesmente era tomado, antes das confidências, por um imenso cansaço
e preferia guardar seu segredo.
Uma noite, no entanto, quando eu não parava de lhe perguntar que tipo de brincadeira era aquele "Henri Kustiker" e Yvonne implicava com ele, repetindo a frase ritual
- "Alô, aqui é Henri Kustiker..." - sua aparência era mais tensa do que de costume. Ele declarou surdamente: "Se vocês soubessem tudo o que esses sujos me obrigam
a fazer..." E acrescentou numa voz breve: "Bom seria se eu pudesse esquecer as histórias deles de Argélia..." No minuto seguinte, voltava à despreocupação e ao
bom humor e nos propunha ir à Sainte-Rose.
Depois de 12 anos, eu me dava conta de que não sabia
129
muita coisa sobre René Meinthe e condenava minha falta de curiosidade na época em que o via todos os dias. Depois, a figura de Meinthe - e a de Yvonne também -
embaralharam-se e eu tinha a impressão de não mais distingui-las a não ser através de um vidro fosco.
Lá, naquele banco de praça, com o jornal que anunciava a morte de René a meu lado, revi breves seqüências daquela estação, mas tão vagas como de costume. Uma noite
de sábado, por exemplo, quando jantávamos, Meinthe, Yvonne e eu, numa pequena tasca à beira do lago. Em torno de meia-noite, um grupo de malandros cercava nossa
mesa e começava a nos atacar. Meinthe, com o maior sangue-frio, tinha apanhado uma garrafa, quebrado contra a borda da mesa e brandia o gargalo cheio de pontas.
- O primeiro que se aproximar, eu corto a garganta... Disse essa frase num tom de alegria malvada que me dava medo. Aos outros também. Eles recuaram. No caminho
de volta, René cochichou:
- Quando eu penso que ficaram com medo da rainha Astrid...
Ele admirava particularmente essa rainha e sempre levava consigo uma fotografia dela. Acabou se convencendo de que, numa vida anterior, ele tinha sido a jovem,
bela e infeliz rainha Astrid. Com a fotografia de Astrid, levava aquela onde figurávamos nós três, na noite da taça. Eu tenho uma outra, tirada na avenida de Albigny,
em que Yvonne me segura pelo braço. O cachorro está a nosso lado, grave. Dir-se-ia uma fotografia de noivado. E depois, conservei uma outra muito mais antiga,
que Yvonne me deu. Data do tempo do barão. Vêem-se os dois, Meinthe e ela, numa tarde ensolarada, sentados no terraço do bar Basque de Saint-Jean-de-Luz.
São essas as únicas imagens nítidas. Uma bruma aureola todo o resto. Saguão e quarto do Hermitage. Jardins do Windsor e do hotel Alhambra. Vila Triste. A Sainte-Rose.
Sporting. Casino. Houligant. E as sombras de Kustiker (mas quem era Kustiker?), de Yvonne Jacquet e de um tal de conde Chmara.
130
XIII
Foi mais ou menos nessa época que Marilyn Monroe nos deixou. Eu tinha lido muitas coisas a seu respeito nas revistas e a citava como exemplo para Yvonne. Ela também,
se quisesse, poderia fazer uma bela carreira no cinema. Francamente, tinha tanto charme quanto Marilyn Monroe. Bastava-lhe ter a mesma perseverança.
Ela me escutava sem nada dizer, deitada na cama. Eu falava do início difícil de Marilyn Monroe, das primeiras fotografias para folhinhas, dos primeiros pequenos
papéis, dos degraus galgados um após o outro. Ela, Yvonne Jacquet, não devia parar no meio do caminho. "Modelo volante." Em seguida, um primeiro papel em Liebesbriefe
auf dem Berg, de Rolf Madeja. E acabava de levar a Taça Houligant. Cada etapa tinha sua importância. Era preciso pensar na próxima. Subir um pouco mais. Um pouco
mais.
Ela não me interrompia quando eu lhe expunha minhas idéias acerca de sua "carreira". Escutava-me de verdade? No início, sem dúvida, ficou surpresa com tamanho
interesse de minha parte, e lisonjeada por eu entretê-la com seu belo futuro com tanta veemência. Talvez, por instantes, eu lhe tenha comunicado meu entusiasmo
e ela se punha, também, a sonhar. Mas aquilo não durava, suponho. Ela era mais velha do que eu. Quanto
131
mais penso nisso, mais me digo que ela vivia aquele momento da juventude em que tudo de repente vai balançar, em que vai ser um pouco tarde demais para tudo.
O barco ainda está no cais, basta atravessar o passadiço, restam alguns minutos... Uma doce ancilose lhe toma.
Meus discursos a faziam rir, às vezes. Cheguei a vê-la dar de ombros quando lhe disse que os produtores com certeza iriam notar sua aparição em Liebesbriefe auf
dem Berg. Não, ela não acreditava nisso. Ela não tinha o fogo sagrado. Mas Marilyn Monroe também não, no início. Isso vem, o fogo sagrado.
Muitas vezes me pergunto onde ela pode ter falhado. Com certeza, ela não é mais a mesma e sou obrigado a consultar as fotografias para ter bem na memória o rosto
que ela tinha naquela época. Tento em vão, há anos, ver Liebesbriefe auf dem Berg. As pessoas a quem perguntei me disseram que esse filme não existia. O próprio
nome de Rolf Madeja não lhes dizia grande coisa. Eu lamento. No cinema teria reencontrado sua voz, seus gestos e seu olhar tais como os conheci. E amei.
Onde quer que ela esteja - muito longe, imagino - lembra-se vagamente dos projetos e dos sonhos que eu arquitetava no quarto do Hermitage, enquanto preparávamos
a refeição do cachorro? Lembra-se da América?
Pois, se atravessávamos os dias e as noites em deliciosa prostração, isso não me impedia de pensar em nosso futuro, que eu via em cores cada vez mais exatas. Eu
tinha, com efeito, pensado seriamente no casamento de Marilyn Monroe e Arthur Miller, casamento entre uma verdadeira americana, saída do mais profundo da América,
e um judeu. Nós teríamos um destino um tanto parecido, Yvonne e eu. Ela, francesinha da terra, que viriá a ser daqui a alguns anos uma estrela de cinema. E eu,
que terminaria sendo um escritor judeu, com grossíssimos óculos de tartaruga.
Mas a França, de repente, pareceu ser um território por demais estreito, onde eu não conseguiria de fato mostrar do que
132
era capaz. O que poderia alcançar naquele pequeno país? Um comércio de antiguidades? Um emprego de comerciante de livros? Uma carreira de literato tagarela e friorento?
Nenhuma dessas profissões despertava meu entusiasmo. Era preciso partir, com Yvonne.
Eu não deixaria nada para trás, pois não tinha ligações em lugar algum e Yvonne havia rompido as dela. Teríamos uma vida nova.
Inspirei-me no exemplo de Marilyn Monroe e Arthur Miller? Logo pensei na América. Lá, Yvonne se dedicaria ao cinema. E eu à literatura. Nós nos casaríamos na grande
sinagoga do Brooklyn. Encontraríamos dificuldades múltiplas. Talvez elas nos massacrassem definitivamente, mas se as vencêssemos, então o sonho tomaria forma. Arthur
e Marilyn. Yvonne e Victor.
Eu previa para bem mais tarde um retorno à Europa. Nós nos aposentaríamos numa região montanhosa - Tessin ou Engadine. Moraríamos num imenso chalé, cercado por
um parque. Numa estante, os Oscars de Yvonne e meus diplomas de doutor honoris causa das universidades de Vale e do México. Teríamos uma dezena de dogues alemães,
encarregados de retalhar os eventuais visitantes e jamais veríamos ninguém. Passaríamos dias jogados no quarto como nos tempos do Hermitage e da Vila Triste.
Para esse segundo período de nossa vida, eu tinha me inspirado em Paulette Godard e Erich Maria Remarque.
Ou então ficávamos na América. Encontrávamos uma grande casa no campo. O título de um livro largado no salão de Meinthe tinha me impressionado: A verde relva do
Wyoming. Nunca o li, mas basta repetir A verde relva do Wyoming para eu sentir uma fisgada no coração. Definitivamente, era naquele país que não existe, no meio
daquela relva alta e de um verde transparente, que eu gostaria de viver com Yvonne.
133
O projeto de partida para a América, refleti sobre ele diversos dias antes de falar com ela. Havia o risco de ela não me levar a sério. Era preciso, antes, acertar
os detalhes materiais. Não improvisar nada. Eu juntaria o dinheiro da viagem. Dos 800 mil francos que tinha arrancado do bibliófilo de Genebra, restava em torno
da metade, mas eu contava com outro recurso: uma borboleta extremamente rara que levava há alguns meses nas malas, espetada no fundo de uma caixinha de vidro.
Um perito tinha me afirmado que o animal valia "por baixo" 400 mil francos. Ele valia, conseqüentemente, o dobro e eu poderia conseguir o triplo se o vendesse
a um colecionador. Eu mesmo apanharia os bilhetes na companhia geral transatlântica e acabaríamos no hotel Algonquin de Nova York.
Em seguida, eu contava com minha prima, Bella Darvi, que tinha feito carreira lá, para nos introduzir no meio do cinema. Pronto. Era esse, em grandes linhas, meu
plano.
Contei até três e me sentei num degrau da grande escadaria. Através da rampa, via o balcão da recepção, embaixo, e o porteiro que falava com um indivíduo careca
de smoking. Ela se virou, surpresa. Estava usando seu vestido de musselina verde e um lenço da mesma cor.
- E se fôssemos para a América? Eu tinha criado aquela frase com medo que ela ficasse no fundo da garganta ou que se transformasse num arroto. Respirei bem e repeti
também alto:
- E se fôssemos para a América? Ela veio se sentar no degrau, a meu lado, e me apertou o braço.
- Você não está bem? - perguntou. - Claro que estou. É muito simples... Muito, muito simples... Vamos para a América...
Ela examinou os sapatos de salto, beijou-me no rosto e me disse que eu lhe explicaria aquilo mais tarde. Já passava das
134
nove horas e Meinthe nos esperava na Resserre deVeyrier-duLac.
O lugar lembrava os albergues das cercanias de Mame. As mesas estavam arrumadas numa grande chata, em torno da qual haviam posto grades e tinas de plantas e arbustos.
Jantavase à luz de velas. René tinha escolhido uma das mesas mais próximas da água.
Ele vestia seu terno de xantungue bege e nos acenou com o braço. Estava em companhia de um moço que nos apresentou, mas cujo nome esqueci. Sentamo-nos à frente
deles.
- É muito agradável aqui - declarei - para iniciar a conversa.
- É, pode ser - disse René. - Este hotel é mais ou menos um ponto de encontro...
- Desde quando? - perguntou Yvonne. - Desde sempre, minha querida. Ela me olhou de novo, caindo na gargalhada. E depois: - Sabe o que o Victor me propôs? Quer
me levar para a América.
- Para a América? Visivelmente, ele não estava compreendendo. - Idéia esquisita. - Sim - eu disse. - Para a América. Ele me sorriu com um ar cético. Para ele,
tratava-se de palavras ao vento. Virou-se para o amigo.
- E então, melhorou? O outro respondeu com um sinal de cabeça. - Agora você tem que comer. Ele lhe falava como a uma criança, mas o rapaz devia ser um pouco
mais velho do que eu. Tinha o cabelo louro curto, um rosto de traços angelicais e uma largura de lutador.
René nos explicou que o amigo tinha concorrido à tarde pelo título de "mais belo atleta da França". A prova tinha acontecido no Casino. Ele tinha ficado apenas
com o terceiro lugar
135
dos juniores. O outro passou a mão no cabelo e, dirigindo-se a mim:
- Não tive sorte... Eu o ouvia falar pela primeira vez e, pela primeira vez, notei seus olhos de um azul lavanda. Ainda hoje me lembro da aflição infantil daquele
olhar. Meinthe encheu o prato dele de alimentos crus. O outro dirigia-se sempre a mim e também a Yvonne. Sentia-se à vontade.
- Esses sujos do júri... eu devia ter ganho a melhor nota em poses plásticas livres... - Cale-se e coma - disse Meinthe, num tom afetuoso.
De nossa mesa, viam-se as luzes da cidade, ao fundo, e virando-se ligeiramente a cabeça uma outra luz, muito brilhante, chamava a atenção, bem à frente, na margem
oposta: a SainteRose. Naquela noite, as fachadas do Casino e do Sporting estavam sendo varridas por projetores cujos fachos atingiam as bordas do lago. A água tomava
matizes vermelhos ou verdes. Eu escutava uma voz desmesuradamente amplificada por um altofalante, mas estávamos longe demais para apreender as palavras. Tratava-se
de um espetáculo som e luz. Eu tinha lido na imprensa local que nessa ocasião um ator da Comédie-Française, Marchat, acho eu, declamaria O lago, de Alphonse de
Lamartine. Eram, sem dúvida, da voz dele os ecos que percebíamos.
- Devíamos ter ficado na cidade para ver - disse Meinthe. - Eu adoro o som e luz. E você?
Ele se dirigia ao amigo. - Não sei - respondeu o outro. Seu olhar estava ainda mais desesperado do que no primeiro instante.
- Poderíamos passar lá daqui a pouco - propôs Yvonne sorrindo.
- Não - disse Meinthe -, esta noite tenho que ir a Genebra.
O que ia fazer lá? Com quem se encontrava no Bellevue ou no Pavillon Arosa, aqueles locais que me indicava Kustiker
136
pelo telefone? Um dia, não voltaria vivo. Genebra, cidade de aparência asséptica, mas devassa. Cidade incerta. Cidade de trânsito.
- Vou ficar lá uns três ou quatro dias - disse Meinthe. - Telefono para vocês quando voltar.
- Mas teremos partido para a América, Victor e eu, daqui até lá - disse Yvonne.
E ela riu. Eu não entendia por que ela levava meu projeto na brincadeira. Eu sentia uma raiva surda tomar conta de mim.
- Enjoei da França - eu disse, num tom sem réplica. - Eu também - disse o amigo de Meinthe, de modo brutal que contrastava com a timidez e a tristeza que tinha
mostrado até então. E essa observação distendeu a atmosfera.
Meinthe tinha pedido bebida e éramos os únicos clientes que ainda permanecíamos no pontão. Os alto-falantes, na distância, difundiam uma música de que só nos chegavam
fragmentos.
- Essa é a banda municipal disse Meinthe. - Ela toca em todos os som e luz. Ele se virou para nós: O que é que vocês vão fazer esta noite?
- Fazer as malas para ir para a América - declarei, secamente.
De novo, Yvonne me examinou com inquietude. - Ele continua com a América dele - disse Meinthe. - Então vocês iriam me deixar aqui sozinho?
- Claro que não - eu disse. Brindamos os quatro, sem mais nem menos, sem razão alguma, mas porque Meinthe o propunha. Seu amigo esboçou um sorriso pálido e seus
olhos azuis foram atravessados por um lampejo furtivo de alegria. Yvonne me deu a mão. Os serventes já começavam a arrumar as mesas.
São essas as recordações que ficaram desse último jantar.
137
Ela me escutava, franzindo as sobrancelhas, de uma maneira estudiosa. Estava deitada na cama, vestida com o velho robe de seda de bolas vermelhas. Eu lhe explicava
meu plano: a companhia geral transatlântica, o hotel Algonquin e minha prima Bella Darvi... A América em cuja direção vogaríamos dali a alguns dias, aquela terra
prometida que me parecia, à medida que eu falava, cada vez mais próxima, quase ao alcance da mão. Já não se viam as luzes, lá embaixo, do outro lado do lago?
Ela me interrompeu duas ou três vezes para me fazer perguntas: "O que é que vamos fazer na América? Como poderemos obter vistos? Com que dinheiro viveremos?" E eu
mal me dava conta, tão entretido estava com meu tema, de que sua voz se tornava cada vez mais pastosa. Ela estava com os olhos semicerrados ou mesmo fechados,
e de repente os abria arregaladamente e me examinava com uma expressão horrorizada. Não, nós não podíamos permanecer na França, naquele pequeno país sufocante,
em meio àqueles "degustadores" afogueados, aqueles ciclistas de corrida e aqueles gastrônomos dementes que sabiam diferenciar diversas espécies de peras. Eu sufocava
de raiva. Não podíamos permanecer nem um minuto mais naquele país onde se faziam caçadas, perseguições. Acabado. Nunca mais. As malas. Depressa.
Ela tinha adormecido. Sua cabeça tinha deslizado ao longo das barras da cama. Parecia ter cinco anos a menos, com as bochechas ligeiramente intumescidas, o sorriso
quase imperceptível. Tinha adormecido como acontecia quando eu lia para ela a História da Inglaterra mas, dessa vez, ainda mais depressa do que escutando Maurois.
Eu a olhava, sentado na borda da janela. Soltavam fogos de artificio em algum lugar.
Comecei a arrumar as malas. Eu tinha apagado todas as
138
luzes do quarto para não acordá-la, exceto a da cabeceira. Ia pegando as coisas dela e as minhas nas prateleiras.
Alinhei nossas malas abertas no assoalho do "salão". Ela tinha seis, de tamanhos diferentes. Com as minhas, eram 9, sem contar o baú. Juntei meus velhos jornais
e minhas roupas, mas as coisas dela era mais difícil arrumar e eu descobria um novo vestido, um vidro de perfume ou uma pilha de lenços quando achava que tinha
acabado tudo. O cachorro, sentado no sofá, acompanhava minhas idas e vindas com um olho atento.
Eu não tinha mais força para fechar aquelas malas e desabei numa cadeira. O cachorro tinha pousado o queixo na borda do sofá e me observava dali debaixo. Encaramos
demoradamente um ao outro no branco dos olhos.
O dia estava chegando e uma leve lembrança me veio. Quando tinha eu vivido momento parecido? Eu revia os móveis da décima sexta ou da décima sétima circunscrição
- rua Colonel-Moll, praça Villaret-de-Joyeuse, avenida GénéralBalfourier - onde as paredes tinham o mesmo papel que os quartos do Hermitage, onde as cadeiras e
camas lançavam a mesma desolação ao coração. Ternos lugares, pousos precários, que é sempre preciso evacuar antes que cheguem os alemães e que não guardam qualquer
vestígio seu.
Foi ela quem me acordou. Examinava, de boca aberta, as malas prestes a estourar.
- Por que você fez isso? Sentou-se sobre a mais gorda, de couro grená. Parecia exausta, como se tivesse me ajudado a fazer as malas durante toda a noite. Estava
com a saída de praia entreaberta nos seios.
Então, de novo, em voz baixa, falei da América. Surpreendi-me a escandir as frases e aquilo tornava-se uma melopéia.
Como argumento, contei a ela que o próprio Maurois, o escritor que ela admirava, tinha partido em 40 para a América. Maurois.
139
Maurois. Ela sacudiu a cabeça e me sorriu amavelmente. Estava de acordo. Partiríamos o mais depressa possível. Ela não queria me contrariar. Mas eu devia descansar.
Passou a mão em minha testa.
Eu tinha ainda tantos pequenos detalhes a considerar. Por exemplo, o visto do cachorro.
Ela me escutava sorrindo, sem se mexer. Falei durante horas e horas, e voltavam sempre as mesmas palavras: Algonquin, Brooklyn, companhia geral transatlântica,
Zukor, Goldwyn, Warner Bros, Bella Darvi... Ela ouviu, paciência.
- Você devia dormir um pouco - repetia de vez em quando.
Eu estava esperando. O que é que ela podia estar fazendo? Tinha me prometido estar na estação uma meia hora antes da chegada do expresso para Paris. Assim não
correríamos o risco de perdê-lo. Mas ele acabava de partir outra vez. E eu permanecia de pé, acompanhando o desfile cadenciado dos vagões. Atrás de mim, em volta
de um dos bancos, minhas malas e meu baú estavam dispostos em meio círculo, o baú em posição vertical. Uma luz seca desenhava sombras sobre a plataforma. E eu
sentia aquela impressão de vazio e de estupidez que sucede à passagem de um trem.
No fundo, eu estava ali esperando por mim. Teria sido incrível se as coisas tivessem acontecido de outro modo. Contemplei de novo minha bagagem. Trezentos ou quatrocentos
quilos que eu sempre carregava comigo. Por quê? Com esse pensamento, fui sacudido por uma gargalhada ácida.
O próximo trem viria à meia-noite e seis. Eu tinha mais de uma hora pela frente e saí da estação, deixando minha bagagem na plataforma. Seu conteúdo não interessaria
a ninguém. Além disso, era muito pesada para se deslocar.
Entrei no café em rotunda, ao lado do hotel de Verdun. Ele
140
se chamava dos Cadrans ou do Avenir? Jogadores de xadrez ocupavam as mesas do fundo. Uma porta de madeira marrom se abria para um salão de bilhar. O café era iluminado
por tubos de néon rosa vacilante. Eu ouvia a batida das bolas de bilhar a intervalos muito longos e a saraivada contínua do néon. Nada mais. Nem uma palavra.
Nem um suspiro. Foi em voz baixa que eu pedi uma infusão com hortelã.
De repente, a América me pareceu bastante distante. Albert, o pai de Yvonne, vinha aqui jogar bilhar? Gostaria de saber. Um torpor me tomava e reencontrei naquele
café a calma que tinha conhecido em casa da senhora Buffaz, nos Tilleuls. Por um fenômeno de alternância ou de ciclotimia, um sonho sucedia outro: eu já não me
imaginava com Yvonne na América, mas numa pequena cidade de província que se parecia estranhamente com Bayonne. Sim, morávamos na rua Thiers e nas noites de verão
íamos passear sob as arcadas do teatro ao longo das aléias Boufflers. Yvonne me dava o braço e ouvíamos a batida de bolas de tênis. No domingo à tarde, fazíamos
a volta das muralhas e nos sentávamos sobre um banco do jardim público, perto do busto de Léon Bonnat. Bayonne, cidade de repouso e de doçura, depois de tantos
anos de incerteza. Talvez não fosse tarde demais. Bayonne...
Eu a procurei por toda parte. Tentei achá-la na Sainte-Rose entre as inúmeras pessoas que jantavam e todas as que dançavam. Era uma noite que fazia parte do programa
de festividades da estação: a Noite Cintilante, acho. Sim, cintilante. Em jatos curtos, os confetes inundavam as cabeleiras e espáduas.
Na mesma mesa que ocupavam na noite da taça, reconheci Fossorié, os Roland-Michel, a mulher morena, o diretor do clube de golfe e as duas louras bronzeadas. Em
suma, não saíam do lugar há um mês. Só o penteado de Fossorié tinha mudado: uma primeira onda com brilhantina formava uma espécie de diadema em torno da testa.
Atrás, um buraco. E outra onda, muito ampla, passava bem em cima do crânio e caía em cascata
141
sobre a nuca. Não, eu não sonhava. Eles se levantam e andam para a pista de dança. A orquestra toca um paso doble. Eles se misturam aos outros dançarinos, lá,
sob a chuva de confetes. E aquilo tudo vira e volta em turbilhão e depois se dispersa em minha lembrança. Poeiras.
Uma mão sobre meu ombro. O gerente da casa, o tal Pulli. - Está procurando alguém, senhor Chmara? Ele fala cochichando no meu ouvido.
- Senhorita Jacquet... Yvonne Jacquet... Pronunciei esse nome sem grande esperança. Ele não deve saber de quem é. Tantas caras... Os clientes se sucedem noite
após noite. Se eu mostrasse uma fotografia, a reconheceria, com certeza. É preciso ter sempre consigo fotografias daqueles a quem se ama.
- Senhorita Jacquet? Acaba de sair na companhia do senhor Daniel Hendrickx...
- O senhor acha? Devo ter feito uma cara engraçada, inflando as bochechas, como uma criança a ponto de chorar, porque ele me segurou pelo braço.
- Claro que sim. Na companhia do senhor Daniel Hendrickx.
Ele não dizia "com", mas "na companhia de" e identifiquei nisso um preciosismo de linguagem comum na alta sociedade do Cairo e de Alexandria, quando o francês lá
era de rigor.
- Tomamos um drinque? - Não, tenho que pegar um trem à meia-noite e seis.
- Pois bem, acompanho o senhor à estação, Chmara. Ele me puxa pela manga. Mostra-se familiar, mas também respeitoso. Atravessamos a turba de dançarinos. Ainda
o paso doble. Os confetes agora caem em chuva contínua e me cegam. Eles riem, mexem-se muito a minha volta. Eu me apóio contra Fossorié. Uma das louras bronzeadas,
a que se chama Meg Devillers, pula em meu pescoço:
- Oh, o senhor... o senhor... o senhor... Ela não quer mais me largar. Arrasto-a dois ou três metros.
142
Consigo afinal me livrar. Voltamos a nos encontrar, Pulli e eu, no início da escada. Nossos cabelos e nossos casacos estão crivados de confetes.
- É a Noite Cintilante, Chmara. Ele dá de ombros. Seu carro está estacionado na frente da Sainte-Rose, no meio-fio da estrada do lago. Um Simca Chambord cuja
porta me abre cerimoniosamente.
- Entre neste calhambeque. Ele não dá logo a partida. - Eu tinha um conversível grande no Cairo. E ao léu: - Suas malas, Chmara? - Estão na estação. Rodávamos
há alguns minutos, quando perguntou: - Qual o seu destino? Não respondi. Ele diminuiu a marcha. Não passávamos dos trinta quilômetros por hora. Virou-se para
mim:
- ... As viagens... Permanecia em silêncio. Eu também. - É preciso afinal fixar-se em algum lugar, acabou dizendo. Ai de mim...
Contornávamos o lago. Olhei uma última vez as luzes, as do Veyrier bem na frente, a massa sombria de Carabacel no horizonte, diante de nós. Apertei os olhos para
ver a passagem do funicular. Mas não. Estávamos longe demais.
- O senhor vai voltar aqui, Chmara? - Não sei. - O senhor tem sorte de ir embora. Ah, essas montanhas... Designava a cadeia de Aravis, na distância, que estava
visível ao clarão da lua.
- Sempre se acha que vão lhe cair por cima. Eu me sinto sufocado, Chmara.
Essa confidência vinha diretamente do coração. Emocionou-me, mas eu não tinha força para consolá-lo. Ele era mais velho que eu, afinal.
143
Entramos na cidade seguindo a avenida Maréchal-Leclerc. Nas proximidades, a casa natal de Yvonne. Pulli dirigia perigosamente à esquerda, como os ingleses, mas
por sorte não havia trânsito no outro sentido.
- Estamos adiantados, Chmara. Ele tinha parado o Chambord na praça da Estação, na frente do hotel de Verdun.
Atravessamos o saguão deserto. Pulli nem precisou pegar um tíquete de plataforma. A bagagem continuava no mesmo lugar.
Sentamo-nos no banco. Mais ninguém, além de nós. O silêncio, a tepidez do ar, a iluminação tinham algo de tropical.
- É engraçado - constatou Pulli -, parece que estamos numa estaçãozinha de Ramleh...
Ele me ofereceu um cigarro. Fumamos gravemente, sem nada dizer. Acredito que cheguei a fazer, como desafio, umas argolas de fumaça.
- A senhorita Yvonne Jacquet saiu mesmo com o senhor Daniel Hendrickx? - perguntei numa voz calma.
- Saiu, mas por quê? Ele alisou o bigode preto. Suspeitei de que queria me dizer algo muito sentido e decisivo, mas não saiu. Sua testa se enrugava. Gotas de suor
com certeza lhe iriam correr pelas têmporas. Consultou seu relógio. Meia-noite e dois. Então, num esforço:
- Eu podia ser seu pai, Chmara... Escute-me... O senhor tem a vida pela frente... E preciso ter coragem...
Ele virava a cabeça para a esquerda, para a direita, para ver se o trem chegava.
- Eu mesmo, na minha idade... Evito olhar para o passado... Tento esquecer o Egito...
O trem entrava na estação. Ele o acompanhava com os olhos. Hipnotizado.
Quis me ajudar a subir a bagagem. Ia me passando as malas e eu as arrumava no corredor do vagão. Uma. Depois duas. Depois três.
144
Tivemos muita dificuldade com o baú. Ele deve ter distendido um músculo levantando e empurrando-o na minha direção, mas fazia aquilo com uma espécie de frenesi.
O empregado bateu as portinholas. Desci o vidro e me debrucei para fora. Pulli me sorriu.
- Não esqueça o Egito e boa sorte, old sport... Essas duas palavras em inglês em sua boca me surpreenderam. Ele agitava o braço. O trem se sacudia. Ele se deu conta
de repente de que tínhamos esquecido uma de minhas malas, de forma circular, perto do banco. Levantou-a, pôs-se a correr. Tentava alcançar o vagão. Afinal parou,
ofegante, e fez para mim um largo gesto de impotência. Estava com a mala na mão e se mantinha muito ereto debaixo das luzes da plataforma. Dirse-ia uma sentinela
que diminuía, diminuía. Um soldado de chumbo.
Patrick Modiano
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















