



Biblio VT




O segredo da Verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias.
Contudo, nunca foi bem estabelecida a primeira encarnação do alferes José Francisco Brandão Galvão, agora em pé na brisa da Ponta das Baleias, pouco antes de receber contra o peito e a cabeça as bolinhas de pedra ou ferro disparadas pelas bombardetas portuguesas, que daqui a pouco chegarão com o mar. Vai morrer na flor da mocidade, sem mesmo ainda conhecer mulher e sem ter feito qualquer coisa de memorável. É certamente com a imaginação vazia que aqui desfruta desta viração anterior à morte, pois não viveu o bastante para realmente imaginar, como até hoje fazem os muito idosos em sua terra, todos demasiado velhos para querer experimentar o que lá seja, e então deliram de cócoras com seus cachimbos de três palmos, rodeados pelo fascínio dos mais novos e mentindo estupendamente. E talvez falte apenas um minuto, talvez menos, para que os portugueses apareçam à frente deste sol forte de inverno na baía de Todos os Santos e façam enxamear sobre ele aquelas esferazinhas de ferro e pedra que o matarão com grande dor, furando-lhe um olho, estilhaçando-lhe os ossos da cabeça e obrigando-o a curvar-se abraçado a si mesmo, sem nem poder pensar em sua morte. No quadro “O alferes Brandão Galvão Perora às Gaivotas”, vê-se que é o 10 de junho de 1822, numa folhinha que singra os ares, portada de um lado pelo bico de uma gaivota e do outro pelo aguço de uma lança envolvida nas cores e insígnias da liberdade.
.
.
.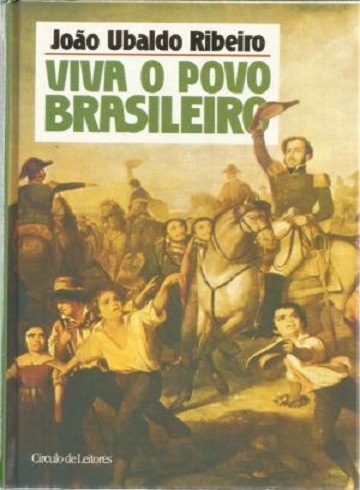
.
.
.
Já mortalmente atingido, erguendo-se com um olho a escorrer pela barba abaixo, ele arengou às gaivotas que, antes distraídas, adejavam sobre os brigues e baleeiras do comandante português Trinta Diabos. Disse-lhes não uma mas muitas frases célebres, na voz trêmula porém estentórea desde então sempre imitada nas salas de aula ou, faltando estas, nas visitas em que é necessário ouvir discursos. Pois, se depois da metralha portuguesa não havia ali mais que as aves marinhas, o oceano e a indiferença dos acontecimentos naturais, havia o suficiente para que se gravassem para todo o sempre na consciência dos homens as palavras que ele agora pronuncia, embora daqui não se ouçam, nem de mais perto, nem se vejam seus lábios movendo-se, nem se enxergue em seu rosto mais que a expressão perplexa de quem morre sem saber. Mas são palavras nobres contra a tirania e a opressão sopradas pela morte nos ouvidos do alferes, e são portanto verdadeiras. Coisas opostas, a glória em vida e a glória na morte, somente esta parece perseguir a alma sempre encarnante do alferes. Do contrário, não estaria ele ali, naquele dia e naquele lugar, podendo ter ido a outra parte qualquer do Recôncavo onde o povo se reunisse para beber e para aclamar o Regente e Imortal Príncipe Dão Pedro, Defensor Perpétuo do Hemisfério Austral. Já finado e herói, com suas cada vez mais alargadas palavras às gaivotas circulando de boca em boca, o alferes não ouviria a alta proclamação que em muitas festas se fez na cidade do Catu, como não veria diversas outras que se seguiram desde o dia pressagioso em que o Senado da Câmara da Bahia, fervendo de ressentimento e ódio porque a Corte embarcara em seus navios para Portugal do mesmo jeito alheio com que chegara, recusou registro à Carta Régia em que se nomeava comandante d’Armas o brigadeiro Inácio Madeira de Melo. O povo brasileiro se levantava contra os portugueses e discursos caudalosos ribombavam pelas paredes das igrejas, boticas e salões onde os conspiradores
profetizavam a glória da América Austral, fulcro de esplendor, fortuna e abundância. Em toda parte sagravam-se novos heróis, um a cada dia em cada povoado, às vezes dois ou três, às vezes dúzias, com as notícias de bravuras voando tão rápido quanto as andorinhas que passam o verão na ilha. Assim foi ao arribar ao porto da Bahia a famosa corveta Regeneração, que trazia de volta, agora anistiados, importantes heróis, levados presos por sedição ao castelo de São Jorge, na capital opressora. Envoltos nas brumas da lenda, esses homens do Destino logo dilataram por todas aquelas terras a reputação de seu valor incomparável, a beleza de seu cada gesto, a força certeira de cada coisa dita, o caráter jamais quebrantado por fraqueza humana. E não podia o coração de José Francisco senão bater mais depressa, o queixo tremelicar e a cabeça girar, quando, como se houvesse tambores rufando pelas abas da capa de debruns escarlates, o grande guerreiro tenente João das Botas, passageiro da Regeneração, desembarcou ao pôr do sol para visitar a ilha em segredo e falou a alguns homens que o boticário reunira na Ponta das Baleias. Ouviu dele furente denúncia contra os deputados brasileiros que em Lisboa se tinham oposto à anistia. Mal podendo continuar a respirar, escutou como o Brasil representava a liberdade, a opulência, a justiça e a beleza, negadas até agora pela iniquidade dos portugueses, que tudo de nós queriam e nada davam em troca. Aprendeu a dizer com desprezo o nome de um dos deputados e, mais tarde, já envergando o gibão verde de punhos agaloados que lhe tinha dado a viúva de um anspeçada, sua madrinha cega e velha, já habituado a sentir um aperto no peito ao vislumbrar os milicianos agrupandose aqui e ali, o nome desse deputado seria a única coisa que saberia dizer nas reuniões da botica. Discursavam quase sempre o boticário e seu frequente visitante, o alto e inspirado orador Sousa Lima, mas os demais podiam arriscar uma palavra ou outra enquanto os grandes revolucionários tomavam fôlego e, assim, cofiando os punhos do gibão e ostentando a barba rala que seus 17 anos lhe conferiam, o alferes Brandão Galvão resmungava com aspereza: Gonçalves Ledo, traidor cobarde! Então, correndo o olhar inconformado pela sala como querendo acompanhar os movimentos de uma mosca aflita, esmurrava o joelho, grunhia uma imprecação ininteligível e voltava a seu silêncio quieto. Agradava-lhe que, apesar de repetir as palavras e gestos quase todas as noites, pois custava a aprender coisas novas e das letras só conhecia as iniciais do apelido, os outros conspiradores o ouvissem sempre como se estivesse dizendo algo muito necessário nunca antes escutado, e alguns lhe ecoassem os resmungos com acenos quase solenes. Antes que a morte lhe trouxesse a glória e lhe emprestasse o dom das belas palavras, talvez até pensasse de quando em vez que, se não fosse pela roupa agaloada e pelos arrepios vagos mas sublimes que a menção da guerra lhe causava, a vida de moço de pescaria que antes levava, bastardo e pobre, seria apesar de tudo preferível. O trabalho de pescar, embora incerto pela própria natureza, era coisa que sucedia como as noites e os dias e, se demandava atenção e disciplina, também despertava um sentimento arrebatador de liberdade, que o alferes não entendia bem mas percebia, principalmente quando, com os peixes transfigurados numa massa de prata latejante esbatendo as redes e canoas, os homens em fim de pescaria suspiravam fundo e riam sem razão. Não fazia ideia do que ia acontecer, tinha vergonha disto e, sempre que reunia coragem para indagar, perdia-a no último instante e apenas resmungava outra vez. Não sabia onde ficava Portugal, sabia somente que para lá voltara seu pai assim que ele nasceu. Algumas vezes se esgueirou por ali de noite, para ver de longe o barco de guerra
português Dona Maria da Glória, fundeado igual a uma nave assombrada no porto da Ponta da Cruz. Como não tinha arma de fogo, pois de objetos militares só possuía o gibão, apertava nos dedos uma fisga de três pontas, enrodilhado na escuridão, espiando o barco e sentindo o fôlego se apressar, pensando de olhos fechados em abordar o navio e matar os portugueses com sua arma de içar peixes. Esperava ver o rosto medonho do comandante Manoel Pereira da Silva, de quem diziam ser dos mais cruéis reinóis entre todos os malvados que enviava a Corte tirânica, mas nunca enxergou nada além da sombra de um cachorro magro deslizando pelas beiradas do ancoradouro e nunca ouviu nada além da água chocalhando contra o casco do barco, os sussurros que a noite amplifica, fazendo soar como uma assembleia de tagarelas as passadas dos caranguejinhos que saem no escuro. Dos seus deveres de alferes nada conhecia, nem mesmo o que significava o posto, nem mesmo se era alferes. Suspeitava até que, para ser alferes, havia necessidade de alguma coisa mais que simplesmente o chamarem por esse título, como aconteceu pela primeira vez na botica e terminou por se tornar uso de todos na Ponta das Baleias. Pode ser que, se não tivesse medo de encontrar-se sozinho com outros alferes ou comandantes ou pilotos ou capitães ou outras tantas figuras de expressão severa, catadura esculpida e veste galardoada, se pudesse entender certas palavras cujos sons, em segredo e angústia solitária, lhe lembravam apenas objetos imaginários estapafúrdios, se não tivesse tanto desconhecimento de tudo, a lhe pesar na cabeça como uma cervilheira de chumbo, houvesse ido a Cachoeira, onde os conspiradores já tanto se exaltavam que voavam entre as nuvens e sentiam um sangue diverso banhando o corpo por dentro, pronto para irrigar os mares e gerar nas espumas mais e mais heróis, mais e mais deuses e deusas da Liberdade, como se via nas estampas e se desenhava com a mente, pelo fio das palavras dos oradores. O rio Paraguaçu, muito pardo, placidamente enganoso, quase letárgico no fundo do vale, fazia, só por uma mirada até a curva onde sumiria, pressentir que suas muitas entidades se aprestavam para o embate, e todos os dias alguém, a qualquer hora, estava de pé numa margem sua, o olhar colado no horizonte e o pensamento pintando visões de batalhas. Mas o alferes só se inteirava desses e de outros portentos por ouvir contar, pois temia deparar-se com outro soldado, que lhe fizesse perguntas. Que percebia de armas e estratagemas de guerra? Em quantos combates havia pelejado e que memórias reunira para contar aos companheiros e à família? Que acha de todas as lutas do Brasil, que opinião tem sobre a nossa Independência, que grandes comandantes, mal recuperando o alento depois de sofrida refrega, lhe disseram “deem-me dez como você, meu bravo, e o orbe terrestre será nosso”? Onde fica mesmo o Brasil, sabendo-se que certamente isto aqui é Brasil, mas não é todo o Brasil, e pode o bom soldado ignorar onde fica o Brasil? Não, José Francisco não sairia da Ponta das Baleias, não só porque não desejava, como porque o destino já lhe trançava sobre a cabeça a coroa de louros e espinhos que ia assinalar sua condição de herói. Ali à Ponta das Baleias, na data inscrita na folhinha alada do quadro, com grande sanha e fúria, os portugueses desferiram seu primeiro ataque contra os revolucionários da ilha de Itaparica. Sabedor de que se conspirava, por informações do português João de Campos, que será xingado e amaldiçoado em toda a Eternidade cada vez que se fizer um discurso sobre o alferes Brandão Galvão e sua plateia de gaivotas, o voluntarioso general Madeira, tendo de sofrear sem testemunha ou amparo as
rédeas do Hemisfério Austral, enviou ao povoado da Ponta das Baleias o comandante Trinta Diabos e sua frota de brigues. Durante muito tempo depois desse ataque, mesmo séculos depois, as pessoas se persignariam ao lembrar o Dona Maria da Glória transfigurado num monstro marinho de fogo e fumaça, faluas baixadas dos brigues acometendo a praia com os remos assemelhados a ouriços mortais, lanças e alabardas faiscando as pontas cada vez mais perto. Sucumbiu somente, como estava escrito, o alferes Brandão Galvão, antes mesmo que os portugueses pisassem na areia, pois ele era muito visível, uma dessas formas que quem carrega arma virgem sente compulsão de alvejar, os punhos do gibão reluzindo e a silhueta magra cortando as tábuas mortiças do ancoradouro. Abatido logo quando a primeira falua passou a disparar projéteis para todos os lados, pôde somente reconhecer que aquelas mordidas do ar subitamente vivo e sibilante o matavam, quando então perorou às gaivotas. Nem viu João de Campos saltar à frente do primeiro grupo para apontar com o dedo gordo e sebento, banhas tremendo por dentro dos culotes frouxos, as casas dos conspiradores. Felizmente, ao despontarem os brigues bordejando a enseada, somente o alferes permanecera no posto que designara para si próprio, pois os outros, do boticário aos oradores, dos milicianos ao cura, dos marinheiros aos mariscadores, bateram em retirada para os matos dos lados de Amoreiras, assim impedindo, com sua ação astuta, pronta e corajosa, que os quadros da Revolução sofressem baixas de consequências inestimáveis. Embravecidos e correndo sobre a imensa coroa de areia firme como uma hoste de demônios, os portugueses praticaram tamanhas atrocidades que livros de versos foram escritos sobre elas e o ódio dos muitos ofendidos ainda hoje não se aplacou de todo nos corações de seus descendentes. A artilharia que ficou na praia e na fortaleza foi aviltada, a pólvora ensolvada, as peças de ferro cravadas e postas a rolar pelo capim e pelo barro. A igreja de São Lourenço foi invadida, arrancado o manto de Nosso Senhor dos Martírios, destruído o oratório de Vera Cruz. E tantos sacrilégios se cometeram que, não já estivesse Deus do lado brasileiro por justiça e vocação, para ele se bandearia agora, diante da algozaria do inimigo. A botica foi quase demolida, houve grandes prejuízos, mas José Francisco, por só ter no mundo uma mãe entrevada, uma irmã nem donzela, duas galinhas, uma fisga de três pontas e um gibão de punhos agaloados, não trouxe nem representou prejuízo. Pelo contrário, legou ao povo suas palavras às gaivotas, no dia em que, montando guarda às costas da terra mais brasileira que existe, foi ceifado pela garra ímpia e sem misericórdia de Portugal, na Ponta das Baleias.
O comportamento das almas inopinadamente desencarnadas, sobretudo quando muito jovens, é objeto de grande controvérsia e mesmo de versões diametralmente contraditórias, resultando que, em todo o assunto, não há um só ponto pacífico. Em Amoreiras, por exemplo, afirma-se que a conjunção especial dos pontos cardeais, dos equinócios, das linhas magnéticas, dos meridianos mentais, das alfridárias mais potentes, dos polos esotéricos, das correntes alquímico-filosofais, das atrações da lua e dos astros fixos e errantes e de mais centenas de forças arcanas — tudo isso faz com que, por lá, as almas dos mortos se recusem a sair, continuando a trafegar livremente entre os vivos, interferindo na vida de todo dia e às vezes fazendo um sem-número de exigências. Dizia-se que era por causa dos tupinambás que lá moravam, que com mil artes e manhas de índios amarravam as almas dos mortos até que eles
pagassem os obséquios que morreram devendo, ou resolvessem qualquer pendência de que foram partes. Mas depois dos tupinambás vieram os portugueses, espanhóis, holandeses, até franceses, e os defuntos, mesmo não havendo mais índios para os amarrar, continuaram por lá, desafiando as ordens dos padres e feiticeiros mais respeitados para que se retirassem. Em seguida, chegaram os pretos de várias nações da África e, não importa de onde viessem e que deuses trouxessem consigo, nenhum deles jamais pôde livrar-se de seus mortos, tanto assim que foram os que melhor aprenderam a conviver com essa circunstância, não havendo, por exemplo, órfãos e viúvos entre eles. Os muitos deles que não conseguiram suportar viver na companhia de uma memória infinita e na presença de tudo o que já existiu mudaram-se para lugares bem longe de Amoreiras e jamais comem qualquer coisa vinda de lá. Há partes do Recôncavo em que as almas jovens desencarnadas sem aviso cedem a um primeiro impulso e por engano entram na barriga de uma cabra ou jega ou num ovo de galinha. Uma vez entradas, não podem sair até que nasça, se crie e morra ou seja matado o animal em que entraram, razão por que há quem venha ao mundo preferindo inanição a comer das carnes de certos bichos, isto porque já encarnaram nesses bichos uma ou várias vezes e os conhecem por dentro, não cessando jamais de ser parentes. Existe a possibilidade de que se proceda a extração de uma alma assim vitimada pela inexperiência, mas isto requer poderes acima de humanos e uma conjunção de fatores mais que delicada, de maneira que a maioria das famílias afligidas pela presença de uma alma encarnada em um de seus animais prefere agir com resignação e caridade. Em outras partes, as almas se apossam não de animais, mas de árvores, cabendo discussão sobre se o fazem de propósito, sustentando alguns que a alma, sobressaltada com o que se passou durante a encarnação de que saiu e muito inquieta por se saber imortal, acha melhor a condição de planta que a de gente ou bicho. A alma não aprende nada enquanto alma, necessita da encarnação para aprender, e sobram razões para acatar a opinião segundo a qual, como planta, ela aprende melhor que como homem, notadamente as árvores grandes que dão frutos. Não é possível negar tampouco que em todo o Recôncavo são encontradas almas penadas e não haveria como duvidar do testemunho de tantas e tantas pessoas que com elas cruzam e as ajudam por meio de velas, novenas, orações e sacrifícios. Inúmeras almas penadas mantêm-se nesta situação de forma bem transitória e, na verdade, não estão penando, mas descansando antes de subir para o Poleiro das Almas, onde, mais cedo ou mais tarde, terão de vencer um grande medo e encarnar outra vez. Não há necessidade de obrigá-las a fazer isso, porque é insuportável não poder aprender absolutamente nada, de forma que, a todo instante, multidões delas não conseguem mais conter-se e, despencando precipitosamente do Poleiro das Almas em voos dardejantes, baixam para encarnar. São acontecimentos muito complicados, cujo inteiro entendimento escapa aos mais sábios homens e confrarias, razão decerto por que é tão forte a corrente que pretende haver sido o alferes Brandão Galvão a primeira encarnação daquela alminha tão atordoada e assustada que abandonou o corpo sagrado do herói e, como as almas são mais leves que o ar e muitas não sabem voar direito, ficou um pouco ao sabor do vento que movera a frota portuguesa e, oscilando na aragem entre a fortaleza e a ilha do Medo, atentou com grande amor, desencanto e desamparo para o corpo lá embaixo refletindo a luz do sol em seus punhos militares. Mas pensar que o alferes foi a primeira encarnação daquela alminha solta no nordestal que vem baixando é mais coisa da
vaidade humana, a qual busca mudar o mundo à feição de sua necessidade. Sim, que maior glória haveria para o povo do que ter sido esse herói inspirador e eloquente a primeira encarnação de uma almazinha nova, uma alma especialmente gerada para cimentar fortemente o orgulho de todos e exibir a fibra da raça? Assim, porém, não aconteceu. Há poucas almas novas, embora todos os dias algumas sejam criadas, na grande sopa cósmica que rodeia os planetas e as constelações. Sabe a moderníssima Biologia que, há muitos e muitos milhões de anos, não existiam seres vivos, mas as substâncias que hoje os compõem boiavam soltas no caldo primordial dos mares e então, num lindo dia de sol, a luz bateu sobre algumas dessas substâncias bem na hora em que o balanço das ondas as aproximava, com o resultado de que apareceu algo vivo pela primeira vez. A mesma coisa que os sábios mostram ser tão simples se dá com as alminhas novas, quando se formam na grande sopa cósmica. As alminhas são como certas partículas de matéria, também descritas pela moderníssima ciência, que têm cor, sabor e preferências, mas não têm corpo nem carga. Tanto as alminhas quanto as partículas não obstante existem, tudo dependendo da inquantidade de nada que não entra em sua incomposição e, com quase toda a certeza, de outras condições científicas, tais como pressão, temperatura e a presença de bons catalisadores para reações de nada com nada. Então, nas amplidões siderais, imensuráveis e copiosas não massas de nada escorrem, obviamente sem qualquer velocidade que lhes seja inerente, para juntar-se nas proximidades de algum poleiro d’almas. Se o nada procura os poleiros d’almas ou se os poleiros d’almas procuram o nada, não há como saber. O fato é que, nas vizinhanças de um poleiro d’almas, o que ocorre é nada, nada por todos os lados, uma infinitude de nada inimaginável em toda a sua inextensão. Nada e mais nada e mais nada e mais nada ali se vai aglomerando, até o ponto em que se acumula tanto nada que ele se transmuta num nada crítico e desta maneira surge algo desse nada. Não mais é, essa repentina não forma do nada, que uma almazinha nova, inexperiente e inocente como todas as criaturas muito jovens, por isso mesmo sujeita a grande número de percalços, pois a única coisa que sabe é que deve ir para o Poleiro das Almas, empoleirar-se com as outras e esperar a hora em que terá de encarnar para aprender. E, na verdade, a almazinha que ficou tanto tempo desconsolada e errante depois que, ainda tão verde e indefesa, se viu obrigada a abandonar o corpo do alferes Brandão Galvão, não era originalmente uma alma brasileira, pois é muito difícil que as almas se destinem a nascer somente numa nacionalidade qualquer, ou venham a apegar-se a alguma. No caso dessa, tudo começou, como tantos eventos importantes, por obra do acaso. Quando, fortuitamente, o Poleiro das Almas está repleto de almazinhas recém-nascidas, a agitação febril de tantos jovens ansiosos pelo aprendizado e pelo cumprimento de suas sinas chega a fazer fibrilar o cosmo e a perturbar um pouco o perfeito funcionamento dos relógios astrais e demais mecanismos celestes. Nesses casos, é comum que, em revoadas nervosas e espasmódicas, como lavandeiras que estejam a mariscar e sejam espantadas por uma pedra, as almas novas desçam iguais a flechas em direção ao planeta, chispando de um ponto a outro com a velocidade de relâmpagos, até acharem um ovo, um útero, uma semente, algo vivo para animar. E, naturalmente, não descem como desceriam se fossem corpos, talvez propriamente nem desçam, já que suas trajetórias são simultaneamente perpendiculares aos planos de todas
as três dimensões e, se não é possível compreender isto, é porque pouco se compreende de quartas, quintas ou sextas dimensões, inclusive as almazinhas, que, assim, antes de chegarem, nunca sabem onde estão. E dá-se muito que a primeira encarnação das almazinhas não seja em gente, mas em bicho ou planta, podendo supor-se que, bem antes de entrar na barriga desiludida da mãe do alferes, essa almazinha fora macaco ou papagaio, em algum lugar das grandes matas do Recôncavo. Como, naquela época, a maior parte dos macacos e papagaios não tinha tantos problemas sérios quanto agora, é de crer-se que a almazinha haja tentado voltar para a mesma espécie, mas não conseguiu resistir, apesar do medo intenso que isto sempre provoca nas almas, à oportunidade de encarnar em gente. Sucedeu assim que a almazinha, solta entre os matos e bichos, foi virtualmente sugada, certa feita, pela forte atração exercida sobre ela pela barriga de uma tupinambá em cujo interior acabara de acontecer, fazia poucas horas, uma concepção. Talvez tenha principiado aí a colaboração de circunstâncias singulares que terminou por fazer da alma do alferes uma alma brasileira. Nasceu índia fêmea por volta da chegada dos primeiros brancos, havendo sido estuprada e morta por oito deles antes dos doze anos. Sem nada entender, mal saía do corpo da menina e iniciava nova subida ao Poleiro das Almas, quando outra barriga de gente a chupou como um torvelinho e eis que a almazinha nasce índio outra vez e outra e outra, não se pode saber exatamente quantas, até o dia em que, depois de ter vivido como caboclo no tempo dos holandeses, enfurnado nos matagais e apicuns com três ou quatro mulheres e muitas filhas e comendo carne de gente volta e meia, passou um certo tempo no Poleiro das Almas, com temor de novamente encarnar em homem ou mulher. E seguramente alguma coisa deve estar escrita, porque essa alma, tiritando de receio e aflição no espaço escuro entre os mundos, fez tenção firme de evitar o Hemisfério Austral na descida seguinte, mas, como não tinha efetivamente aprendido coisa alguma, sabendo melhor ser papagaio do que gente, terminou por revoar de maneira fatídica e, dezoito anos, dois meses e vinte dias antes do 10 de junho de 1822, achou-se por dentro das vísceras da mulher franzina que logo a iria parir, no corpo do futuro alferes Brandão Galvão, herói da Independência. Alferes este que, nem bem terminara sua alminha de assistir de longe ao enterro simples que lhe fizeram, já tinha o nome exaltado onde quer que houvesse revolucionários patriotas reunidos, já era evocado como exemplo de valentia e eloquência, já se tornava objeto de dissertações arroubadas e pungentes. Talvez haja também a alminha passado demasiado tempo em Amoreiras, durante suas vagâncias desencarnadas pela ilha, pois que as almas não têm muito senso de tempo. Mas talvez nem seja verdade que ela teria sido encantada pelos engodos, ardis e necromancias que se entrelaçam no ar de Amoreiras, porque, cada vez com mais assiduidade e interesse, deu para frequentar os locais onde o alferes recebia homenagens, deu para vibrar de satisfação, com uma felicidade que jamais experimentara, quando pormenores de sua fala às gaivotas eram lembrados ao povo pelos declamadores, em alexandrinos sinfônicos, ordens inversas arrebatadoras, proparoxítonas troantes como tonéis martelados, metáforas cujos contornos jamais se dissolviam, adornando o ar de esculturas gelatinosas e frementes. Admirou-se mais e mais de si mesma, ouviu tantos relatos de prodígios obrados por homens tais como aquele que fora, que não pensava em mais nada. E assim, uma bola azul elétrico invisível suspensa pelos muitos ventos que povoam o firmamento, a almazinha adiava e ansiava o instante em que se tomaria de perdida paixão e se
tornaria uma alma brasileira para todo o sempre, contribuindo para entender-se este fenômeno lembrar que, sim, as almas não aprendem nada, mas sonham desvairadamente.
Pirajá, 8 de novembro de 1822.
Sentado debaixo de uma jaqueira com as pernas esticadas e abertas, comendo um pão de milho meio seco e dando dentadas enormes num pedaço de chouriço assado, Perilo Ambrósio Góes Farinha resolveu reclamar com os dois escravos que lhe faziam companhia, embora eles não tivessem cometido falta alguma e apenas o observassem de olhos famintos. Estava irritado com a comida. Sempre fora assim, desde pequeno, muito sensível a decepções relativas a comida. Podia ser apenas uma expectativa frustrada, podia ser qualquer coisa, até mesmo alguém que conseguisse chegar antes a um naco em que estivesse de mira feita, apesar da boca cheia e da atenção vigilantíssima que costumava dar a toda a comida sobre a mesa, enquanto devorava fragorosamente a que empilhava nas duas ou três selhas de louça da terra que lhe serviam de pratos. Lembrou, como de hábito sentindo o peito ofender-se e doer a solidão pesada da injustiça, que o pai ameaçara pela décima ou trigésima vez expulsá-lo da vila e da fazenda, ao vê-lo atacar uma das irmãs com um chuço de assar porque ela se apossara primeiro de um pedaço de carne distante mas cobiçado. Não tinha como alcançar aquela salpresa a resplender entre maxixes e jilós na outra ponta da mesa, nem mesmo podia reservála para si com gritos e ameaças, porque o atrapalhava a boca ingurgitada de toras de toucinho com farinha que calcava com ânsia por todos os espaços da boca e, ao mesmo tempo, não se permitia deixar de angustiar-se por medo de furtarem de suas pilhetas abarrotadas bocados já antecipados aos fungos e suspiros, se parasse de lhes dar atenção ainda que alguns instantes. Então não cabia fazer nada, a não ser, com os olhos de uma baleia ferida, voar por cima daquele intolerável abismo entre ele e o pedaço de carne e, antes que a irmã mordesse o que era dele, transfixar-lhe a mão com o chuço preto e gorduroso. Por que me perseguem? — pensou em gritar ainda, revoltado, mas, enquanto carregavam para dentro a irmã com o espeto atravessado da palma às costas da mão, as negras levantando uma algazarra descabida, o pai arrancou-lhe a lasca de carne de entre os dentes em meio a uma chuva de tabefes, obrigando-o a sair da mesa e não mais comer naquele dia. Dentro do quarto em que o pai o trancou, ardeu de ódio e despeito e chorou quase o tempo todo, em soluços esganiçados tão fundos que às vezes pensava que nunca teriam fim. Entre outras vinganças com as quais sonhava de quando em quando e acordava pingando suor, jurou em voz alta que um dia obrigaria aquela irmã a passar fome enquanto ele comesse diante dela, pois jamais, agora que fora ingratamente magoado, existirá em toda a Terra carne suficiente para matar a fome por aquele pedaço usurpado e arrancado à força de seus dentes desesperados. Expulso de casa, sim, tinha sido, muito depois. Mas isso não queria dizer mais nada agora, chegou quando todos os seus outros rancores já o envenenavam a cada momento do dia. — Pois dão-me água a beber! — falou, com a voz mais estridente e alta que o normal, como sempre acontecia quando se dirigia aos negros. — Água! Não basta que tenha de comer
esta massamorda pestífera, há também que lavar a goela com água! Anda lá, dá-me cá esta cabaça! Feliciano, o negro mais jovem, saiu do sol onde seu amo o obrigara a ficar junto com o outro e apanhou lentamente a cabaça para passá-la. — Avia-te, estafermo! — gritou Perilo Ambrósio. Puxando a rolha pela cordinha que a atravessava na parte mais grossa, bebeu ruidosamente alguns goles, baixou a cabaça e deu um pontapé na perna de Feliciano, tão forte quanto lhe consentia a posição escarrapachada. — Ficas com esta cara de merda, sem dúvidas porque deixei-os ao sol — e lá os deixo pela Eternidade, se tanto me der na telha! — e porque querem botar essas bocas de estrumo cá na cabaça de onde bebo esta água imunda que me trazem! Por que me deitaram desta água imunda à cabaça? Por quê? Responde, pedaço d’asno, bosta do demônio! E, se te deixo ao sol, por isso devias ter-me em melhor conta, pois que lá te faço um grande favor, que teus miolos hão de estar acostumados a ser cozidos pelo sol das Áfricas e assim te confortas um pouco. E não me faças cá esta feição de monge silenciário, macaco deslavado, não me faças feição alguma, os negros não têm alma e têm quanto direito a expressar-se quanto o têm porcos e galinhas! O que hás de expressar é a vontade de teu amo, como o que tereis ambos de relatar sobre a minha bizarria e valentia neste combate contra as hostes do Madeira, a padecer a mais triste condição, a comer desta gafanha mortal, a beber desta água pestilencial, na companhia de dois negros sujos e fedorentos que peidam como bugres bêbedos e arrefecemme cá o ânimo de luta, isto é o que tens de expressar e mais que te ordene! Levantando um pouco de poeira, um grupo de cavaleiros repontou na estrada de barro que passava pela borda da mata. Perilo Ambrósio teve um sobressalto. — Acode-me cá! — disse ao escravo, que lhe estendeu a mão para que se levantasse, o que fez penosamente, a barriga decidida a permanecer no chão, enquanto ele arfava com os joelhos dobrados em grande esforço. — Que tens, não mais podes com peso? Não saíste à tua mãe então, que muitas vezes a fodi deitando-lhe em cima todas estas arrobas e não me recordo que houvesse ficado amassada e, se não já se tivesse tornado numa burra pelancuda e cheia da gafa que apanhou aos cães, ainda ia eu lá muitas vezes àquele rabo preto. Mas não há de ser nada — acrescentou com um riso obsceno, passando a mão gorda e peluda pelo traseiro de Feliciano —, pois destes cus da tua família ainda não tive cá o meu quinhão completo, e chegará o dia em que te chamarei a meu quarto para que te ponhas de quatro pés e te enfie toda esta chibata pelo vaso de trás, que nisto lá hás de ser bom. Mas então são milicianos que lá vêm? São os homens do Madeira em debandada? Estão a tirar uma peça de artilharia, por isso que demoram e vão tardar, ainda bem. Crês que são mesmo dos nossos? Tens vistas melhores que as minhas, olha bem. Se me mentes, se me dizes que são dos nossos e não são, será tua última velhacaria, pois que te esfolo antes que cá cheguem. Ouve lá, são mesmo dos nossos? Como passa a batalha, não posso arriscar-me, como passa a batalha? Nem mesmo o som da batalha chegava-lhes agora como antes, embora antes tampouco houvesse o retumbo tremendo que esperavam. Perilo Ambrósio, que escolhera aquele ponto bem distante da luta para passar o dia, pois aguardava somente que vencessem os brasileiros para juntar-se a eles em seguida, temia que o combate não tivesse terminado ainda e que, por
algum azar, fosse obrigado a tomar parte nele. Se queria que os brasileiros prevalecessem, não era por ser brasileiro — e na verdade se considerava português —, mas porque, expulso de casa, abominado pelos pais e por todos os parentes, sob ameaça de deserdação, deliberara adquirir fama de combatente ao lado dos revoltosos. Desta maneira, seu pai, fiel à Corte, já foragido e acusado de todos os crimes e perfídias concebíveis, poderia perder tudo com a vitória brasileira, passando os bens muito justamente confiscados a pertencer ao filho varão, distinto pelo denodo empenhado na causa nacional. Preferia Perilo Ambrósio que a família fosse degredada para muito longe, talvez para Angola, entre pretos cozinhando homens para devorar e moscardos traficando moléstias fatais, mas, na impossibilidade disto, conformavase com a ideia, que o fazia rolar horas a fio na cama a esfregar uma mecha de cabelo entre os dedos com ar estúpido, de tornar-se senhor absoluto da fazenda, dos negros, das casas e de tudo mais. O que aconteceria com a família não importava agora, era assunto para mais tarde, depois que a situação presente fosse aproveitada da melhor forma. Eram dos nossos, não havia dúvida. Alguma coisa, pressentia-se daqui, acontecera com as rodas de uma carreta que transportava um canhão pequeno. Dois burros castanhos se esticavam junto às guias da carreta, que mal se movia, apesar da força empregada. Cinco ou seis cavaleiros paradeavam as montarias para a frente e para trás como numa cavalhada, alguns infantes se mexiam em volta da roda direita, a poeira levantada pelos cascos foscava o ar, que ao redor era muito claro, e assim tudo se via como numa pintura antiga, ouvindo-se os estalos do chicote do carreiro, as imprecações e os gritos um pouco depois de haverem acontecido. — Que tiram as duas mulas? — perguntou Perilo Ambrósio, franzindo os olhos para estudar as figuras distantes. — Arrastam um canhãozito de campo, um falconete, é assim que lhe chamam? Trabalho esforçadíssimo, haviam que parar e arranjar a roda, pois que se lhe despega uma, é o que de cá se percebe. Creio que devo ir ter com eles. Quem nos regulares tem os quatro galões e as agulhetas de prata ou oiro? Há uns que vão sempre com dragonas a abanar-lhes os ombros, além de outros ornamentos. A ver cá: depois do cabo de esquadra, segue-se o furriel, temos então os cadetes e daí por cima são todos grandes capitães, sargentos-mores e mestres de campo. Ouve lá, acreditas que nos deem boa acolhida e que nos tenham por voluntários desgarrados do Barros Falcão? Como passa a batalha, isto é o que cabe saber, isto sim! Pois, se lá formos e ainda não tiver passado, é mais certo do que o Bom Senhor nos céus que nos chamarão a marchar com eles. Então conto-lhes um par de histórias, que é de mentiras e patranhas que se faz a narração da guerra. E, afinal, estávamos do outro lado do rio e bem que nos podia ter apanhado de rebate o inimigo, não podia? Mas, sim, em questões de batalhas não se leva à conta quem se mostra cansado da lide, ela ainda continua. Não, não, se devo ter razões com aquele comandante, não hão que ser simples razões, sem nada a mostrar por elas. E então lá não vou sem antes cuidar de alguns aprestos. Anda cá, estafermo de fumo, anda! Apura-te, infeliz! Pouco depois, somente na companhia de Feliciano, Perilo Ambrósio saudou um tenente, que, ao ver os dois se aproximando, afrouxou a brida e galopou em direção a eles, estacando no miolo de uma nuvem de barro avermelhado. — Ferimento à bala? — perguntou, pois, assim que parou, percebeu que Perilo Ambrósio trazia o braço esquerdo numa tipoia empapada de sangue, assim como o jaleco e a
camisa. — Ainda pode andar bem? Vê-se que perde muito sangue. — Meu comandante, vinte almudes de sangue tivera, todos os vinte os daria gostosamente, e mais os tivera que os daria pela liberdade — respondeu Perilo Ambrósio, com a voz débil e cortada de ofegos lacrimosos. — Mas é português, não é? — Sim, meu comandante, foi Portugal onde primeiro vi a luz e entre portugueses fui criado, pois que o são meu pai e minha mãe, como hão de ser também os vossos maiores. Mas, se lá vi a luz, cá no Brasil foi que vi a vida e, se falo desta maneira, isto se deve ao que forcejaram desde sempre por meter-me na cabeça, eis que até aos estudos na Corte quiseram enviar-me, não houvera eu lutado para não formar-me em meio aos inimigos da liberdade e da Independência. Meu pai, sim, muito infelizmente, se alia à causa do opressor e isto me parte o coração, sendo eu brasileiro mais que por presença aqui, senão porque me sinto tão nativo a estas terras quanto as aves e os bosques. Eis por que saí da casa dos meus pais, renunciei à fazenda e ao espólio e vim cá combater até não me restar alento, ainda que de pouca valia seja. E já vínhamos desde a madrugada, sem descanso, para nos juntarmos aos homens do grande mestre de campo coronel Barros Falcão, quando, ao vencermos a travessia do rio, pilhou-nos um magote deles. Não fora a bizarria do negro Inocêncio, que vinha na nossa companhia e atacou dois sabreadores inimigos, quando já sucumbia eu pelo balaço de algum escopeteiro que nos fez fogo por trás, aqui não estávamos agora. Esse negro Inocêncio, fiel e bravo, continua lá sob a árvore, malferido, talvez à morte, não pode mexer-se nem ser carregado. Mas ainda estou pronto para o combate, meu Senhor comandante, e no aguardo das ordens de Vossa Mercê. — Não, meu bravo, meu camarada — disse o tenente, com os olhos detidos de admiração, o corpo inclinado para a frente, as mãos na maçaneta da sela. — É necessário que descanses, que cures as tuas feridas. Aqui por este fianco, um pouquinho na direção do Sul, as forças do Madeira nos sufocam, há quem afirme que recebeu reforços de três ou quatro mil homens, porventura muitos mais. Mas também nós temos acolhido reforços de toda parte e não podemos deixar que nossos bons camaradas, os que lutam e derramam sangue pela insurreição, fiquem sem amparo e assistência. Aqueles lá, menos um, estão montados mas são praças a pé, moços de cavalariça que se engajaram. Um deles mostrará o caminho por onde irão encontrar alguma ajuda, algum lenitivo para essas feridas. Não podes perder mais sangue, já foi demais. — Não, meu comandante, minhas feridas já as pensou este outro negro que me acompanha e cuja bravura e dedicação são dignas de uma verdadeira pessoa, tanto assim que, a triunfar a causa brasileira como Deus há de ser servido prover, minha tenção é dar-lhe carta de alforria, para que se veja tão livre quanto seremos os brasileiros, embora seja a única propriedade que possuo no mundo. Temo que seja tarde, pois esvaía-se em sangue e já desfalecia quando o deixamos em busca de ajuda, mas causa-me cuidado maior que eu aquele negro lá ao pé da árvore, que com tanta valentia se houve na defesa de sua pátria e de seu amo. Cá por mim posso arranjar-me. Um daqueles cavalicoques que me cedais para mim será um palafrém real e nele, mesmo em marcha descansada, hei de chegar a algum pouso onde me deem abrigo, pois são muitos os amigos que tenho em toda parte e mais incontáveis ainda os
corações generosos. Com um meneio de cabeça curto e enérgico, o tenente, que não parecia ter mais de vinte anos e ao falar via-se que fazia esforço para a voz soar mais grave do que de fato era, disse “pois muito bem” em tom marcial e, segurando o chapéu armado que balançava um pouco frouxo no cocuruto, galopou de volta a seu grupo. Fazendo apear um dos praças depois de levá-lo até Perilo Ambrósio, passou o cavalo e uma quartinha de água, acenou como quem esboça uma saudação. Com o negro Feliciano cabisbaixo mas ligeiro à frente, Perilo Ambrósio oscilava devagar, montando o cavalo em marcha andadeira, já quase chegando aonde a estrada dobrava por trás dos matos e desaparecia em outra direção. Parou um momento, olhando de longe o tenente desmontar junto da árvore onde tinham estado, andar alguns passos, curvar-se brevemente, tirar e recolocar o chapéu e talvez benzer-se — a distância era grande demais para se ter certeza. O tenente montou outra vez e chouteou de volta a seu grupo emoldurado de poeira. Perilo Ambrósio ficou contente em verificar que tudo resultara muito bem até o último pormenor, embora já antes estivesse seguro de que o tenente encontraria Inocêncio morto. Afinal, quando o sangrara à faca para lambuzar-se de seu sangue e assim apresentar-se ao tenente, terminara por dar-lhe mais cuteladas do que planejara, já que os braços e as mãos lhe fugiram do controle e golpeou o negro como se estivesse tendo espasmos. Melhor que haja morrido logo e não se pode negar que de um modo ou de outro deu sangue ao Brasil, pensou Perilo Ambrósio, voltando as costas e cutucando mansamente as ilhargas do cavalo para tomar de vez a estrada.
Cachoeira, 5 de março de 1826.
Sim, não passou o Imperador aqui mais que um par de horas e a Princesa Imperatriz no capitânea da flotilha estava, no capitânea ficou, mas este domingo cujo sol festeja em todas as casas, plantas e águas, esta manhã em que o ar respirado quase faz as pessoas flutuar, as cores da rua da Matriz e da praça da Vila, os vestidos e guarda-sóis de todos os matizes, os sinos dobrando como se tivessem enlouquecido, os homens que ainda saem de calções de cetim branco e sapatilhas como numa corte antiga, as barracas e bandeirolas do dia da visita, os cheiros de cozidos e coentro e pimenta fresca e peixe e frituras africanas, o céu azul-ferrete emoldurando as fortalezas falsas que construíram para agradar Sua Majestade, as pilhas de frutas junto ao rio, os pretos e pretas luzindo entre panos berrantes e falas como flautas exóticas, os meninos correndo entre as árvores em suas fatiotas de ver Deus, os telhados reverberando luz e calor, alguém cantando, alguém olhando o rio, alguém pescando, as portas e janelas abertas, as flores em vasos altos e ramalhudos, tudo isto, sentido daqui da porta da Matriz, passada a missa e começado o dia, parece mostrar que o Imperador do Brasil e seu Perpétuo Defensor ali reside e ali está, para daqui a pouco emergir de um dos três sobrados que lhe destinaram como paços, dando o braço à Imperatriz e, alto e belo como um deus, sair para passear entre os cortesãos e o povo, cumprimentando o sol e com ele rivalizando em esplendor. Tudo isto prova que vale a pena viver, pensou Perilo Ambrósio, barão de
Pirapuama, de pé à saída da Matriz, enxugando o suor do pescoço com um lenço de brocado inglês. Empinou a grande pança, farejou os ares, certificou-se com um olhar de que a caleça atrelada a um par de cavalos brancos, corpulentos e castrados estava de prontidão no lugar que ordenara, com os dois pretos cocheiros espigados na boleia, de roupas também pretas e colarinhos duros que lhes chegavam quase às orelhas. Considerou vagamente a ideia de repreendê-los por haverem saído do ponto preciso que lhes havia determinado e terem preferido ficar debaixo de uma mangueira para evitar o sol. Mas logo desistiu disso. Sentia-se benevolente e, além do mais, à sombra também os cavalos e a caleça, que tantas despesas e aborrecimentos lhe causavam, ficavam protegidos do calor. Sabia que, ao subir à caleça para voltar à casa-grande do engenho, teria vontade de procurar, nas roupas dos negros, nos bancos e nas coberturas, manchas de resina pingada da mangueira e, se as encontrasse, poderia perder a cabeça novamente, como cada vez mais lhe acontecia com os pretos. Mas depois pensaria nisso, não se irritaria agora, tinha saído da missa, tinha mais uma vez dado tanto em pitanças que a mão do sacristão quase não suportou o peso das moedas, tinha sentido o coração confranger-se e os olhos úmidos ao soar do tintinábulo na hora da Eucaristia, tinha visto, nas feições de tantos que o saudavam, afeto, admiração e orgulho em serem por ele reconhecidos e, apesar de não gostar de andar e ter um certo asco de algumas das pessoas que certamente lhe falariam e até procurariam tocá-lo, decidiu caminhar pela rua da Matriz abaixo, desfrutando destes ares alegremente carregados do primeiro domingo depois da visita do Imperador e da felicidade, hoje tão completa, de se saber importante para Deus e para os homens. Socou o lenço volumoso no bolso sem dobrá-lo, ajeitou o chapéu na cabeça e principiou uma marcha paquidérmica em direção à praça. Malditos punhos de renda, malditas mulheres que obrigam a tirar o chapéu e repetir as mesmas saudações. O sota-cocheiro, com o gogó caroçudo saltando entre as abas do colarinho, correu da caleça, esperando ter de ajudálo a subir, como era sua função. — Leça-leça? — perguntou o negro. Não sabia falar ainda a língua dos brancos, era negro novo. Perilo Ambrósio parou e olhou para aquela figura muito alta, grotescamente espadaúda dentro do casaco preto. — Leça? — repetiu o preto com um sorriso aparvalhado. — Vai-vai? Zenho, vai? — Negro imundo — disse Perilo Ambrósio, sem saber bem por quê. — Ngmundo — ecoou o preto. — Ngmundo leva leça, vai-vai? — Não, não vou para o engenho agora — respondeu Perilo Ambrósio, depois de algum tempo em silêncio, ouvindo o negro repetir “leça-leça” e fazer com os braços os gestos de quem carrega alguma coisa com cuidado. — Volta para lá e me espera. Volta! — Vota — falou o preto, com o mesmo sorriso assustador. — Sim, volta. O preto fechou o sorriso tão repentinamente quanto o havia aberto e, antes de dar meia-volta, pareceu indeciso sobre que lado escolher, meneou o tronco, finalmente correu de volta à caleça. — Miolo mole — decidiu Perilo Ambrósio. Mas isto não foi suficiente para tranquilizá-lo, porque se viu obrigado a reconhecer que, diante daquele negro abobalhado e seu sorriso desagradável, sentira mais uma vez uma
espécie de medo. Talvez até mesmo o houvesse escolhido para servir na caleça não somente pelo porte, pela saúde e pela força que o tornavam um escravo invejado, digno de um barão. É possível que tivesse sido também para colocar aquele medo à prova, aquele medo inexplicável e quase corporal que sempre o assediava ao falar com ele. Talvez, se ele entendesse, não o chamasse de negro imundo. Não, não, é claro que chamaria, também não era assim. Seria medo? Como ter medo de uma coisa sua, mais um negro seu entre dezenas e dezenas, uma coisa com a qual podia fazer o que quisesse? Sim, mas também se tem medo de um novilho bravo, de um animal qualquer, até mesmo da bicada de um ganso, cujo pescoço se pode torcer com uma só mão. Não, não era medo, era apenas a sensação desconfortável que todos têm ao conversar com um demente, apenas isto. Contudo, melhor estaria aquele negro servindo na residência da cidade, carregando para a praia os barris de merda produzidos pela casa, bombeando e carreando água e fazendo outros serviços pesados, como pedia seu tamanho. Bem, mas são somente coisinhas importunas, que surgem à mente para tentar estragar um dia como este, quando a praça já desponta à frente com seu povaréu domingueiro e todas as coisas estão ao alcance da mão e do desejo e nada mais inebriante do que, assim em paz com a consciência, perceber que tudo refletia seu poder. Não era corriqueira, apesar de tudo, a chegada tão natural e sem pompa de um barão a esta praça, onde as figuras do Imperador e de seu séquito ainda pareciam mover-se, perto do barracão luxuoso em que Sua Majestade recebera as chaves da cidade e do qual até os pardos libertos puderam aproximar-se para ouvir as vozes da Corte, acentos e tons tão diversos dos daqui, que as damas finas e os homens elevados imitam, alguns com perfeição. Se não mais estavam ali o Imperador, seus almirantes, seus vasos de guerra e seus aparatos reais, toda a aura imperial se transferia para os grandes nobres da terra, os que, como Perilo Ambrósio, mesmo não tendo nascido em Cachoeira e mal a conhecendo, haviam alargado sua fama e fortuna por todas as terras do Recôncavo. Não pertencia sua figura austera e imponente um pouco a todo o povo de Cachoeira? Não era ele também, de certa forma, um nobre de Cachoeira, alguém que aquele povo podia citar com orgulho e dizer aos forasteiros “cá também temos os nossos nobres barões”? Sim, era, pensou Perilo Ambrósio. Eu sou um barão, disse mentalmente. Não precisava mais repetir isto do jeito obsessivo de antigamente, querendo convencer-se de uma coisa absurda a que sua própria cabeça resistia, nos primeiros dias depois da confirmação do baronato. Eu sou o barão de Pirapuama, sou eu. Pirapuama queria dizer baleia, na língua dos bugres. Isto não se pôde confirmar com a certeza que ele desejara, porque os índios praticamente não existiam mais e os poucos que havia ou se escondiam nos cafundós das matas ou passavam o tempo furtando e mendigando para beber, cair pelas calçadas e exibir as doenças feias que sua natureza lhes trazia. Mas todos no Recôncavo e fora dele sabiam que pirapuama era baleia e, se não fosse, seria, pois afinal estava ali o barão das Baleias, aquele que, na esteira de incontáveis sofrimentos e tribulações, lutando pela Pátria, enfrentando ódio e incompreensão, obrigado a combater a própria família, era hoje o maior entre os senhores da pesca dos grandes bichos marinhos que todo mês de junho vinham galhardear os corpanzis no meio das ondas verdes da baía de Todos os Santos. Pirapuama, nome que afirmava a singularidade nacional, que proclamava orgulhoso sua origem austral, atada àquelas terras e a
seus habitantes originais, os nobres selvagens de antanho. Quanta luta, quanto sacrifício, pensou Perilo Ambrósio, novamente enxugando o suor com o farto lenço de brocado cujas rugosidades e farpilhas amaldiçoava, mas cuja exibição estudadamente casual aos olhares dos passantes lhe fazia vir a compulsão irrefreável de mais uma vez esfregá-lo lentamente pelas enxúndias da papada e, concluído o enxugamento, tirar do bolso um flaconete de cristal, para, com o dedo indicador sobre a boca da garrafinha, derramar no pano gotas de um perfume que aromava tudo em torno, maravilhando os moleques com aquelas essências que, saídas de uma pedra reluzente, invadiam o universo. Muito bem, de fato a Revolução premiara seus heróis. E de fato tinha sido muito mais fácil do que imaginara antes, tomar de sua família todas as propriedades. Até mesmo quando, com o pai já capturado, preso e acusado de traição, encontrou o ouro em pó que se dizia estar enterrado ilegalmente nos fundos da casa-grande do engenho, guardou a maior parte do que achou em segredo e levou um punhado às autoridades, como triste evidência de que sua família era efetivamente tudo de mau que se dizia dela e até um pouco mais. Chorara ao entregar aquele ouro, não de pena, mas por reconhecer que, por mais que seu coração de filho se rebelasse, não podia, em nome da Pátria e do povo que fizera a Revolução, esconder a conduta inimiga do pai, da mãe, das irmãs, de todos os que viviam naquela casa de onde se vira expulso por ser o único brasileiro. Desprendimento tinha, podia guardar tudo para si e passar o resto de seus dias na paz, obscuridade e conforto simples de quem, cumprido o dever para com a Nação, não abriga razões para celebrar além da satisfação da consciência, tamanha a adversidade que por todos os lados o vitimou. Mas nada quis, nada pediu. Exaurido e exangue em Pirajá, mal haviam suas feridas deixado de segregar linfa vital, estivera sempre na linha de frente, aconselhando, ministrando, orientando, servindo de mil maneiras, até o momento glorioso em que, escorraçado por entre as sombras da noite e a borrasca que lhe enviaram os deuses do Novo Mundo, o general Madeira zarpou fugido, de volta a Portugal. Sim, a Revolução premiou seus heróis, pensou outra vez Perilo Ambrósio, sopesando a frase, que achou elegante e expressiva. A alguns ela pagara em merecido dinheiro, como aconteceu, a mandado do próprio lorde Cochrane, em Itaparica. Lá, antes mesmo da fuga de Madeira, um certo capitão Tristão Pio dos Santos foi portador, como se contava, de uns tais mil pesos duros para dividir entre os comandantes do 25 de Junho, do Dona Januária e do Vila de São Francisco, por tantas e tão bravosas façanhas cometidas no mar da Bahia. Que vinham a ser mil pesos duros, quantia de som tão forte, a evocar dilúvios de patacas e cruzados? Ninguém do povo da ilha e do Recôncavo sabia, mas se sabia desses e de outros, muitos outros, grandes prêmios, tanto assim que, se agora havia engenhos, moendas, fazendas, fábricas de óleo de baleia, barões, condes, viscondes, nobres da terra, pessoas miliardárias de que o povo podia orgulhar-se, era isto muito porque a Pátria soubera recompensar os que por ela deram tudo, os grandes comandantes, capitães e pilotos de tropas, os que suportaram, nos ombros infatigáveis, o fardo de conduzir e inspirar o povo à vitória pela liberdade e pela felicidade. Retinem ali, naquele frontispício, as armas de Dão Pedro, por ele mesmo desenhadas. Naquele mesmo lugar, ele já vira a esfera armilar de Dão Manuel ser trocada pelo escudo de Portugal, Brasil e Algarve, que, por sua vez, no dia 3 de julho, fora escaqueirado a talhadeira e coberto pela argamassa que fixaria pelos séculos o símbolo da nova era. Símbolo abençoado e benfazejo, arauto da explosão de prêmios e recompensas, a
própria Natureza parecendo fazer desmoronar dos céus patrimônios e fazendas ricas, medalhas e pensões, títulos e concessões, comendas e cargos vitalícios, benesses mais fartas e generosas que a própria terra bendita sobre a qual se desdobrava agora o manto da liberdade. Esses mesmos homens que tinham comandado na guerra comandariam agora na paz — e Perilo Ambrósio lembrou com um arrepio de orgulho sua admirada máquina a vapor, sua abundante produção de açúcar, melaço e aguardente, suas extensas propriedades, as apólices que comprara tão generosamente e que tanto o ressaltaram no apreço da Junta da Fazenda e do Conselho Provisório, sem cujo apoio talvez o baronato não viesse. O progresso está aí, no trabalho de homens como ele. Através dele mesmo, os escravos, pretos rudes e praticamente irracionais, encontravam no serviço humilde o caminho da salvação cristã que do contrário nunca lhes seria aberto, faziam suas tarefas e recebiam comida, agasalho, teto e remédios, mais do que a maioria deles merecia, pelo muito de dissabores e cuidados que infligiam a seus donos e pela ingratidão embrutecida, natural em negros e gentios igualmente. O povo em geral, este tinha muitas fazendas a que agregar-se, muitos ofícios a praticar, podia vender e comer o que pescasse nas águas agora libertadas, podia, enfim, levar a mesma vida que levava antes, com a diferença sublime de que não mais sob o jugo opressor dos portugueses, mas servindo a brasileiros, à riqueza que ficava em sua própria terra, nas mãos de quem sabia fazê-la frutificar. Vou beber um refresco, resolveu Perilo Ambrósio, mas, antes de poder chegar ao quiosque armado para a festa que nunca mais queria terminar, já o rodeavam em rapapés e já os moleques o admiravam à distância, desviando o olhar quando ele os encarava. Muitos bons dias, senhor barão, como passou o senhor barão? Tinha chegado a uma conclusão sobre como portar-se diante do populacho e dos pequenos funcionários e comerciantes que o cercavam, pescoços espichados, faces solenes, para ouvir suas opiniões sobre o mundo e os acontecimentos. Sempre falara com desenvoltura, isto não era problema, mas calhava bem fazer algumas pausas, alguns gestos expressivos, mostrar a profundeza de espírito de onde retirava suas observações. Sacou o lenço da algibeira, cheirou-o com discrição. Era certo que Sua Majestade Imperial estava muito propenso a aceitar a petição cachoeirense para passar de vila a cidade, com o invencível nome de Petrópolis? Sim, era certo, Sua Majestade lhe tinha manifestado essa intenção pessoalmente, quando estivera com ele em Itaparica, logo antes da visita a Cachoeira. Na ocasião, aliás, tinha tido a oportunidade de discorrer a Sua Majestade Imperial a respeito do quadro pintado por mestre Almerindo Conceição, mostrando a peroração do alferes Brandão Galvão às gaivotas, no fatídico e inesquecível 10 de junho. E, curioso, Sua Majestade, embora emocionado pela história do alferes, embora interessado nos pormenores do quadro — que, aliás, não pode ser comparado à verdadeira arte, como a praticada nos países adiantados, e deve ser tomado por um valioso documento, nada mais —, preferiu opinar com mais vagar sobre a explanação do barão de Pirapuama, que qualificou de exemplarmente erudita. Sua Majestade é muito generoso, disse o barão, ordenando com um aceno que lhe trouxessem um refresco de cajá. Tinha o senhor barão chegado a palestrar com a Princesa? Muito de passagem, somente algumas palavras, pois que ela não se sentia bemdisposta com o calor e a maior parte do tempo gastou-a em seus aposentos, abanada e arejada pelas damas de companhia. Como sabe o refresco? Sabe-me bem, sabe-me muito bem, que não
só à Senhora Dona Princesa incomoda este sol canicular. Normalmente, esperaria que a caleça, chamada por um grupo pressuroso de meninos assim que mostrou a intenção de ir embora, viesse buscá-lo onde estava, mas desta vez preferiu encontrá-la a meio caminho, andando como se a pequena multidão estivesse presa a ele por um elástico. Tirou da algibeira uma sacola de camurça, deu moedas aos meninos, velhos e aleijados que o sitiaram. Uma velha recurvada e coberta por um xale preto lhe beijou a mão, disse-lhe que conheceu muito o senhor seu pai e a senhora sua mãezinha, antes que tivessem sido corridos para Portugal. Já a velha estava sendo empurrada pelo meirinho Desidério, envergonhado por haver ela mencionado assunto tão molestoso para o barão, quando Perilo Ambrósio o deteve e, com a naturalidade simples dos grandes homens e heróis, disse-lhe: deixa-a, Desidério, também eu, ai de mim, sinto falta de meus pais e da família, fortuna muito maior do que a que hoje pesa nas minhas omoplatas. Congelou-se a paisagem, silenciaram todos. E Perilo Ambrósio, mordendo o lábio inferior, falou exatamente da maneira que havia planejado com tanta frequência: — Entre a Pátria e a família, minha boa mulher, Deus há sempre de me dar forças para escolher a primeira, eis que vale mais o destino de um povo que a sina de um só. Notou que Desidério, arrebatado, reproduzia, somente com os lábios, as palavras que ele pronunciava e que logo todos comentariam e repetiriam, na pungência de sua franqueza dolorosa, de sua coragem amarga. Afagou o ombro da velha, estendeu-lhe uma moeda e, em movimentos pausados, marchou para a caleça, sob o silêncio grávido dos que agora meditavam no muito que tinha dito em discurso tão miúdo. Apoiou-se no negro sem olhar para ele, subiu à caleça, enxugou o suor pela última vez e, cruzando as mãos por cima da barriga, acomodou-se para balançar e cochilar durante a viagem. No céu de Cachoeira, misturada à luminosidade e à vibração quente do firmamento, a almazinha do alferes Brandão Galvão, ainda entontecida pela visão do Imperador, com as grandezas que se sucediam de roldão e com o lindo quadro em que já acreditava piamente, acompanhou os atos do barão lá de cima, estremecendo de admiração e reverência.
2
Vera Cruz de Itaparica, 20 de dezembro de 1647.
O caboco Capiroba apreciava comer holandeses. De início não fazia diferença entre holandeses e quaisquer outros estranhos que aparecessem em circunstâncias propícias, até porque só começou a comer carne de gente depois de uma certa idade, talvez quase trinta anos. E também nem sempre havia morado assim, no meio das brenhas mais fechadas e dos mangues mais traiçoeiros, capazes de deixar um homem preso na lama até as virilhas o tempo suficiente para a maré vir afogá-lo lentamente, entre nuvens cerradas de maruins e conchas anavalhadas de sururus. Isto só aconteceu depois dos muitos estalidos, zumbidos e assovios que sua cabeça começou a dar, no ver de alguns porque era filho de uma índia com um preto fugido que a aldeia acolheu, o qual, de medo, nunca saiu de casa a não ser pela noite para se mudar quando era preciso, tendo por esta razão desenvolvido uns certos parentescos com morcegos e bacuraus e deixado de enxergar à luz do dia. E a verdade é que desde menino o caboco sofreu um pouco, meio preto, meio índio e o pai o mais do tempo virado num bicho noturno, enxergando com os ouvidos e se escondendo do sol nas árvores folhudas. Mas os estalidos, zumbidos e assovios, bem como o grande esquentamento que lhe incinerava o juízo e provocava nele os comportamentos mais estranhos já vistos, apareceram pela primeira vez logo após a chegada dos padres, os quais vieram com a intenção de não sair e passaram a chamar todo aquele povoado e suas terras de Redução. Nada se deu de supetão, mas a cada dia na Redução o caboco se via mais infernado pelos estalidos, zumbidos e assovios, que muitas vezes entravam em erupção a um só tempo como uma orquestra de diabos, durante a doutrina da manhã ou durante a doutrina da tarde, ou ainda qualquer ocasião em que um dos padres estivesse falando, o que era quase sempre. Até o dia em que, já desesperado por não poder ver um padre sem ter de desabalar correndo com a cabeça entrando pelo meio das pernas, aquela zoada estrondosa lhe explodindo a caixa da ideia, roubou duas mulheres e fugiu para as brenhas, nunca mais havendo regressado. Uns sustentam que continuou a saber falar perfeitamente, outros que deixou de falar e foi virar morcego tal qual o pai, podendo até voar com as asas pretas desses animais — coisa que o pai nunca conseguiu fazer, nem mesmo no dia em que todos o encorajaram, para que escapasse pelos ares dos portugueses a quem os padres o entregaram, por se tratar de negro fugido, coisa ilícita, nada de ilícito sendo permitido numa Redução. E que o caboco come gente, às vezes engordando um ou outro no cercado, é por demais sabido, tendo isto, contudo, principiado por acaso. Quando os padres chegaram, declarou-se grande surto de milagres, portentos e ressurreições. Construíram a capela, fizeram a consagração e, no dia seguinte, o chão se abriu para engolir, um por um, todos os que consideraram aquela edificação uma atividade absurda e se recusaram a trabalhar nela. Levantaram as imagens nos altares e por muito tempo ninguém mais morria definitivamente, inclusive os velhos cansados e interessados em se finar logo de uma vez, até que todos começaram a protestar e já ninguém no Reino prestava atenção às
cartas e crônicas em que os padres narravam os prodígios operados e testemunhados. Deitavase um velho morto ao pé da imagem e, depois de ela suar, sangrar ou demonstrar esforço igualmente estrênuo, o defunto, para grande aborrecimento seu e da família, principiava por ficar inquieto e terminava por voltar para casa vivo outra vez, muitíssimo desapontado. Assim, não se pode alegar que os padres só obtiveram êxitos, mas conseguiram bastante de útil e proveitoso, apesar de tudo isso haver piorado os sofrimentos da cabeça do caboco Capiroba. De manhã, assim que o sol raiava, punham as mulheres em fila para que fossem à doutrina. Depois da doutrina das mulheres, que então eram arrebanhadas para aprender a tecer e fiar para fazer os panos com que agora enrolavam os corpos, seguia-se a doutrina dos homens, sabendo-se que mulheres e homens precisam de doutrinas diferentes. Na doutrina da manhã, contavam-se histórias loucas, envolvendo pessoas mortas de nomes exóticos. Na doutrina da tarde, às vezes se ensinava a aprisionar em desenhos intermináveis a língua até então falada na aldeia, com a consequência de que, pouco mais tarde, os padres mostravam como usar apropriadamente essa língua, corrigindo erros e impropriedades e causando grande consternação em muitos, alguns dos quais, confrangidos de vergonha, decidiram não dizer mais nada o resto de suas vidas, enquanto outros só falavam pedindo desculpas pelo desconhecimento das regras da boa linguagem. E, principalmente, deu-se forte atenção ao Bem e ao Mal, cujas diferenças os habitantes da Redução não compreendiam se explicadas abstratamente, e então, a cada dia, acrescentava-se um novo item a listas que todos se empenhavam em decorar com dedicação. Matar um bicho: pôr na lista do Mal? Não. Sim. Não. Sim, sim. Não, a depender de outras coisas da lista do Mal e das coisas da lista do Bem. Sim, talvez. Poucos — e muito menos o caboco Capiroba — podiam gabar-se de conhecer essas listas a fundo e apenas dois ou três sabiam versões, que decoravam como se fossem rezas e que, cada vez que eram repetidas, mudavam um pouco e se tornavam ainda mais misteriosas. Mas a sabedoria dessas questões do Bem e do Mal foi posta em evidência e sobejamente provada quando tudo começou a acontecer conforme o previsto na doutrina. Antes da Redução, a aldeia era composta de gente muito ignorante, que nem sequer tinha uma lista pequena para o Bem e o Mal e, na realidade, nem mesmo dispunha de boas palavras para designar essas duas coisas tão importantes. Depois da Redução, viu-se que alguns eram maus e outros eram bons, apenas antes não se sabia. Mulher má não quer ir à doutrina, quer andar nua, não quer que o padre pegue na cabeça do filho e lhe besunte a testa de banha esverdeada, dizendo palavras mágicas que podem para sempre endoidecer a criança. Feio, feio, mulher má. Mulheres boas não falam com mulher má, mulher má fica sozinha, marido de mulher má também homem bom, mulher má cada vez mais sozinha, fica com gênio muito ruim, parece maluca. Cada vez mais maluca, castigo do céu porque é mulher má. Homens maus também se desmascaram, também acabam pagando. Homem mau diz que história do padre não tem nem pé nem cabeça, tudo besteirada, vai pescar. E também fica cada vez mais sozinho, bebe aguardente, ninguém conversa com ele, homem mau sempre pior, pior, castigo pesado por maldade, morre afogado e bêbado, vai para um lugar onde o fogo queima sem cessar e lagartos perniciosos atacam o dia inteiro. E, finalmente, teve-se notícia da Tentação, antigamente tão dissimulada que ninguém a notava, mas hoje surpreendida nos locais mais insuspeitados, a ponto de, ao saírem da doutrina, muitos jovens passarem o tempo todo querendo avaliar se tudo o que ocorre não será a Tentação em seus disfarces múltiplos e
ficarem em grande apreensão, sem nem poder dormir, para não deixar que a Tentação os enrede. Nesse longo rosário de sucessos, entre a Tentação, o Bem, o Mal, as ressurreições, os pecados, os castigos, as penitências, o inferno e todas as alvíssaras trazidas pelos padres com a Salvação e as Boas-Novas, os acontecimentos da cabeça do caboco Capiroba teriam de chamar a atenção mais cedo ou mais tarde, e isto se deflagrou com grande escândalo no dia em que, depois de se enervar até ranger os dentes e andar de um lado para o outro como se quisesse costurar o chão, ele amanheceu febril e com ínguas pelo corpo todo, mastigando palavras só ouvidas no tempo em que seu pai ainda falava a língua com a qual nascera e sempre usara antes de virar bicho. Felizmente, no meio de um mundo que de súbito lhe parecia feito de sombras, cada vez mais obscurecente, ele passava momentos de luminosidade, quando conseguia conversar e até mesmo rir. Do contrário, talvez tivesse o destino dos outros e outras que se revelaram endemoninhados absolutos, permanentemente carregando algum diabo do cão do inimigo do belzebu do tinhoso das profundas nas entranhas e na mente, resistindo a tudo o que os padres faziam para livrá-los da maldição. Estes, na maior parte, viviam amarrados ou encarcerados, alguns em tão triste condenação natural pela posse demoníaca que, quando os padres os visitavam para aspergir-lhes água benta e exibir-lhes cruzes, cadáveres hirtos, coroas de espinhos, corações sangrantes e demais símbolos da Nova Vida, eram atacados por convulsões, cataplexias, esgares licenciosos e vários temidos sintomas outros de danação. O caboco Capiroba, entretanto, nos intervalos de seus cada vez mais frequentes tormentos da cabeça, era pessoa franca, cordata e de boa paz, justificando inteiramente a confiança dos padres, que o deixavam desamarrado a maior parte do tempo e observavam com satisfação que ele normalmente não se retorcia todo à vista de cruzes, cadáveres sagrados, coroas de espinhos, corações hemorrágicos e semelhantes sinais do Amor Divino. Foi assim desamarrado que ele e toda a coletividade da Redução escutaram a famosa história do cruel sofrimento e grandes trabalhos havidos pela boa gente cuja embarcação soçobrou às costas desta mesma terra aqui, fazia muito tempo. Ninguém se lembrava desse evento, fosse por memória ou por ouvir contar, mas os padres não mentiam e, por via de consequência, a história era verdadeira, o que provocou, desse dia em diante, inescapável desconfiança entre os habitantes da Redução, cada um achando que o outro era personagem secreto dessa história. A qual era a prosopopeia de tal boa gente naufragada que veio dar à terra quando ali existiam muitos gentios em estado de brabeza e nenhuma cristandade, de forma que os ditos gentios mataram toda essa boa gente para comer, a cada manhã abatendo um a cacetadas depois de rituais malvadíssimos, não se importando com as súplicas que os padecentes lhes dirigiam, nem se dando conta do choro e clamor que se levantava dos desafortunados a serem comidos nos dias seguintes. E tanto se cevaram nessa carne humana os gentios e a ela tanto se acostumaram que nem lhes passou pelas mentes brutas a ideia de ao menos poupar o sacerdote e santo homem daquela expedição malfadada, mesmo quando ele lhes falou do grande pecado que cometiam e da ofensa mortal que, ao comê-lo, perpetrariam contra Deus e todo o seu rebanho. Com uma lágrima a lhe escorrer pela face pálida, o bom padre fechou os olhos diante de um selvagem altíssimo e terrificante, de dentes limados em
serra para melhor rasgar a carne inocente da gente de Deus, executando uma dança monstruosa, intercalada de imprecações satânicas e invocações pagãs, antes de baixar o tacape. E assim, nos olhos de Deus, tais gentios muito se desmereceram e caíram fundo, fundíssimo, de onde talvez jamais pudessem voltar à luz. E com essas e outras razões e enredos mostrou-se que não se devia mais comer gente, ato dos piores entre os mais pecaminosos, costume pérfido que, se antes os moradores da Redução nunca tinham ouvido falar dele, agora os fazia estremecer por haverem sido capazes de tais malfeitorias e os dispunha a para sempre arrepender-se em penitências. E, enquanto a maioria encontrou alguma dificuldade em compreender como tinham feito alguma coisa que nunca souberam que tinham feito, no caso do caboco Capiroba houve uma piora da moléstia da cabeça, a qual foi logo atacada por tamanha saraivada de estalidos, zumbidos, assovios e esquentamentos que, na madrugada posterior à narração da triste história, ele roubou as duas mulheres e desapareceu. Seis dias depois, desalentado e faminto, assando um saguizinho mirrado para comer na companhia das mulheres, aconteceu ter visto pelo moital um movimento de pássaros espaventados. Foi espiar escondido e reconheceu um dos padres, certamente decidido a ir buscá-lo à força por amor, para amarrá-lo e respingar-lhe água benta até que o espírito imundo o abandonasse. O caboco Capiroba então pegou um porrete que vinha alisando desde que sumira, arrodeou por trás e achatou a cabeça do padre com precisão, logo cortando um pouco da carne de primeira para churrasquear na brasa. O resto ele charqueou bem charqueado em belas mantas rosadas, que estendeu num varal para pegar sol. Dos miúdos prepararam ensopado, moqueca de miolo bem temperada na pimenta, buchada com abóbora, espetinho de coração com aipim, farofinha de tutano, passarinha no dendê, mocotó rico com todas as partes fortes do peritônio e sanguinho talhado, costela assada, culhõezinhos na brasa, rinzinho amolecido no leite de coco mais mamão, iscas de fígado no toucinho do lombo, faceira e orelhas bem salgadinhas, meninico bem dormidinho para pegar sabor, e um pouco de linguiça, aproveitando as tripas lavadas no limão, de acordo com as receitas que aquele mesmo padre havia ensinado às mulheres da Redução, a fim de que preparassem algumas para ele. Também usaram umas sobras para isca de siri e de peixinho de rio, sendo os bofes e as partes moles o que melhor serve, como o caboco logo descobriu. O padre, porém, não sustentou o caboco Capiroba e suas mulheres muito tempo, por três ou quatro razões, a primeira das quais era a pequenez da carcaça e a carne nodosa que, mesmo no filé, apresentava pedaços revoltantes pela dureza e resistência a trato e tempero. A segunda foi que tanta provisão terminou por azedar, nesta atmosfera assombrosamente rica em reimas e princípios putrificadores, sobrando somente a carne de sol e a linguiça. A terceira razão, a quarta e as que porventura ainda pudessem ser enumeradas estariam todas subordinadas a que eles se agradaram de carne de gente, de forma que o caboco Capiroba forcejou mais e mais em caçar um ou outro branco entre aqueles que a cada dia pareciam aumentar, em quantidade e qualidade, por toda a ilha. No primeiro ano, comeu o almoxarife Nuno Teles Figueiredo e seu ajudante Baltazar Ribeiro, o padre Serafim de Távora Azevedo, S.J., o alabardeiro Bento Lopes da Quinta, o moço de estrebaria Jerônimo Costa Peçanha, dois grumetes, quatro filhos novos de ouvidores da Sesmaria, uns agregados, um ou outro oficial espanhol por lá passando, nada de muito famoso. No segundo ano, roubou mais duas mulheres e comeu Jacob Ferreiro do Monte, cristão-novo, sempre lembrado por seu sabor exemplar da
melhor galinha ali jamais provada; Gabriel da Piedade, O.S.B., que rendeu irreprochável fiambre defumado; Luiz Ventura, Diogo Barros, Custódio Rangel da Veiga, Cosme Soares da Costa, Bartolomeu Cançado e Gregório Serrão Beleza, minhotos de carnes brancas nunca superadas, raramente falhando em escaldados; Jorge Ceprón Nabarro, biscainho de laivo azedo e enérgico, tutano suculento, tripas amplas; Diogo Serrano, sua esposa Violante, seu criado Valentim do Campo e suas graciosas filhas, Teresa, Maria do Socorro e Catarina, grupo desigual mas no geral consistente, de paladar discreto e digestão desimpedida; Fradique Padilha de Évora, algo velho e esfiapado, mas o melhor toucinho que por lá se comeu, depois de bem salgado; Carlos de Tolosa e Braga, de quem se fizeram dois troncudos pernis; seis marinheiros do capitão Ascenso da Silva Tissão, todos de peito demais rijo e um travo de almíscar, porém de louvada excelência nos guisados e viandas de panela funda; o quartelmestre Lourenço Rebelo Barreto, saudoso pela textura inigualável da sua alcatra, e muitos outros e outras. No terceiro ano, o caboco roubou mais duas mulheres e viu nascer umas quantas filhas, de maneira que, com muitas bocas para sustentar, passou a consumir um número maior de brancos, a ponto de, em alguns períodos, declarar-se uma certa escassez. Até que, bastante tempo depois, as frutas do verão dando em pencas e caindo pelo chão, os insetos em grande atividade e as mantas de tainhas saracoteando irrequietas por toda a costa da ilha, saiu para tentar a sorte meio sem esperança e voltou arrastando um holandês louro, louro, já esquartejado e esfolado, para livrar o peso inútil na viagem até a maloca. O flamengo tinha o gosto um pouco brando, a carne um tico pálida e adocicada, mas tão tenra e suave, tão leve no estômago, tão estimada pelas crianças, prestando-se tão versatilmente a todo uso culinário, que cedo todos deram de preferi-lo a qualquer outro alimento, até mesmo o caboco Capiroba, cujo paladar, antes rude, se tornou de tal sorte afeito à carne flamenga que às vezes chegava mesmo a ter engulhos, só de pensar em certos portugueses e espanhóis que em outros tempos havia comido, principalmente padres e funcionários da Coroa, os quais lhe evocavam agora uma memória oleosa, quase sebenta, de grande morrinha e invencível graveolência. Rês melhor que essa, tão pálida e translúcida, encorpada e ao mesmo tempo delicada ao tato e ao delibamento, ao mesmo tempo rija e macia, ao mesmo tempo salutar e saborosa, ao mesmo tempo rara e fácil de caçar, rês como essa não havia cá nem jamais haveria, cabendo ao homem aproveitar sem questionar o que lhe dadiva a Natureza, pois que do jeito que se dá se tira, não sendo outra a fábrica da vida. Este ano, em cujo início o caboco e sua sempre aumentada família comeram o primeiro holandês, houve ampla fartura, sendo às vezes mais fácil pegar um ou dois deles nos matos que acertar bolo de lama em guaiamum. Mesmo assim, quando uma daquelas cabeças de espiga acenava suas melenas douradas entre as touceiras, ou quando se via o vulto lento de um deles deter a marcha para aspirar os ares como um veado incauto, a emoção da caçada subia ao peito do caboco, o coração saltava e a boca secava na antecipação do cerco, captura e abate daquele belo animal, que, com sua tenacidade, argúcia e resistência, sublinhava o que de mais transcendente e nobre existe na cinegética. Ao encurralá-lo finalmente e matá-lo com um golpe tão rápido quanto possível, às vezes tendo tempo de ouvir os sons sem sentido que emitia antes de tomar a cacetada final, o caboco Capiroba se inflava de orgulho e respeito pela sua presa, frequentemente observando ao jantar a galanteria do comportamento dela e a
honra em que consistia mastigar e engolir aquele taco do que antes fora sua perna, braço ou lombo. Desde que o caboco se entendia, esses recém-chegados de pelos amarelos e fala diferente da dos outros brancos passavam por ali entre idas e vindas confusas, sempre em luta contra os já instalados, incendiando plantações e trovejando de barcos bojudos em direção à praia. Mas nunca houvera tantos deles quanto agora, às vezes em bandos como formigas ruças, erigindo paliçadas e devesas, escarafunchando a ilha e ocupando as fortificações como se tivessem tomado o lugar dos outros definitivamente. Tanto melhor para a família do caboco, que não sabia a quem agradecer pela abundância, pois estava claro que não era às divindades e santas figuras de que lhes falaram os padres da Redução, já que tanto detestavam que se comesse gente, embora o tivessem ensinado a todos por suas narrações. Se não indicasse a experiência que a guarda e engorda de gente era empresa de resultados duvidosos, teria de muito começado um pequeno criatório, no apicum cercado de mangue fechado onde agora residia praticamente todo o tempo. De qualquer sorte, na noite que começava a trazer uma escuridão retinta e o ar pegajoso antecedente às trovoadas, o caboco Capiroba, carregando oito braças de corda de piaçaba fina enroladas num ombro, uma coita de ferro tirada de um mateiro comido, uma rede de malha forte e o cacete de matar gente, contava agafanhar dois ou três holandeses vivos ou mais ou menos vivos, levá-los de volta e criá-los para corte algum tempo. Achava que estava ficando velho, só lhe nasciam filhas com todas as mulheres, a vida se tornava cada vez mais difícil e então queria passar uns dias descansando, sem o trabalho pesado da caça. Deu um suspiro fundo e começou a atravessar o baixio, tendo cuidado para não molhar a rede e a corda.
Pouco antes de a rede do caboco Capiroba lhes despencar sobre as cabeças como dezenas de cobras enroscadas e Nikolaas Eijkman tomar uma porretada na nuca que o deixaria torto pelo resto da existência, ele e seu companheiro Heike Zernike estavam conversando sobre religião. Haviam passado a tarde inteira debruçados à beira de um riozinho com um trinchete em punho, sem conseguir espetar nenhum dos quatro ou cinco peixes maiores que viram perto das capineiras das margens. Zernike, tendo medo dos trovões que pressentia e mais fome do que Eijkman, opinou ser inútil confiar na Providência. Não estavam eles ali, dois bons cristãos tementes a Deus e fiéis servidores de valorosos príncipes e capitães, abandonados pelos seus, padecendo fome, pavores e as próprias penas infernais, entre insetos da envergadura de pardais, bichos nunca testemunhados e plantas de folhas hostis? Ali, já sem esperança, sem armas, sem amigos, sem alimento, sem horizonte? — Maldita Companhia! — vociferou Zernike, enfiando o trinchete na terra fofa com violência. — Maldita Companhia, maldito Schkopp, comandante dos infernos, maldito Banckert, almirante de bosta, malditos todos eles e tudo o que representam e malditas mil vezes suas palavras e crenças mentirosas e tudo mais que nos trouxeram, em desgraças sobre desgraças! E esta noite já cai de repente, como de hábito mesmo neste verão pestilento e ao contrário, e já se vê que outra vez não comemos — como se antes, pensando bem, houvesse de fato comida nesta terra de peras venenosas e raízes malévolas e carnes que fazem cagar sangue, malditos, malditos, mais de mil vezes malditos sejam todos eles! E que, se não naufragarem a caminho do Paranambuco ou onde quer a que vão nesta costa amaldiçoada,
naufraguem em qualquer outra parte e que este temporal que nos vem atormentar os alcance e não deixe juntas duas tábuas no madeirame daquela frota de víboras, esquadra de lacraias, malditos, malditos sejam por toda a Eternidade! — Melhor seria que não blasfemasses e não dissesses tais coisas dos nossos comandantes — respondeu Eijkman. — Afinal, ainda estamos a serviço de Schkopp e ainda somos flamengos. Pouco mudou, nesta semana em que estamos aqui perdidos. — Pouco mudou? Achas então que pouco mudou, quando só temos feito fugir dos bugres e desses espanhóis que nos querem matar decepando-nos as cabeças e atirando o resto aos cães, quando não vemos vivalma e morremos à míngua? — Não são espanhóis, são portugueses, parece-me que a maior parte é de portugueses agora. — Para mim são todos a mesma coisa, os mesmos porcos sanguinários. Como dizes tu que não mudou nada, se nós mesmos assistimos, escondidos no matagal e tremendo como enguias, à degola de Zeeman, de Willem Stoffels, do pobre Einthoven, que viveria em paz em qualquer lugar e sob qualquer senhor ou religião, Pieter Onnes, gentil camarada, coitado do infeliz... — Van der Waals... — Van der Waals! Um velhote fraco e quase sem forças nos braços e nas pernas, um homem de boa estirpe, um patriarca respeitado em todo o Randstadt, e eles... e eles o puseram de joelhos e o decapitaram com aqueles facalhões horrendos e aquelas bisarmas do demônio! Beernaert, Beernaert eles trucidaram, trucidaram como tu viste, com a testa fendida ao meio, deixado junto à água para que os caranguejos o retalhassem! Tu dizes que nada mudou? Enlouqueceste, é isto, perdeste a razão debaixo deste sol inaceitável e comendo estas peras mortíferas, é isto. — Não, digo-te somente que quanto a nós pouco mudou. Continuamos flamengos, servindo à Companhia e engajados nesta expedição, é isto o que quero dizer. — Como engajados, se fomos abandonados aqui à nossa sorte e Banckert zarpou com todos os seus navios? Engajados em quê, em guarnecer esta nesga do inferno para a Companhia? — Não fomos os únicos deixados aqui. Muitos outros estão aqui também, certamente virão reforços para combater a esquadra ibérica que despacham contra nós. — Sim, sim! Sim. Reforços? Bah! Reforços! Sim, outros foram deixados aqui, como Beernaert, que agora engorda os caranguejos, como o velho van der Waals, como Einthoven e todos os outros cujos pescoços os espanhóis cortaram ou esganaram do alto dessas árvores malignas e imundas. — Não, estou seguro de que vamos encontrar um contingente nosso, estou seguro. — Só se ele vier até nós, porque não há esperança de podermos sair desta posição, pois de um lado teremos em nosso encalce esses selvagens nus, agora piorados com as bruxarias que lhes ensinaram os jesuítas, e do outro encontraremos as patrulhas espanholas... — Portuguesas. — Espanholas ou portuguesas ou qualquer desses bárbaros cujos sacerdotes grelham as pessoas como patos de assar e despejam-lhes óleo fervente pelos ouvidos adentro, essa raça vil de pele engraxada e fala como a de cães e porcos!
— Estás assim porque tens fome e não conseguiste arpoar o peixe com a tua sovela. Ouve o que te digo, come uma destas frutas a que chamas peras, elas te farão bem, são boas. — Ardem-me na boca! Queimam-me os beiços e as gengivas, crispam-me a língua e os dentes, dão-me cólicas, dão-me urinas cáusticas, maldito pedaço do inferno, mil vezes maldito! E não tentei fisgar o peixe com uma sovela, isto é um trinchete, um trinchete, ouviste bem? Um trinchete! Quem pensas que és para desfazeres de um instrumento que muito bem te serve, como serve a todos os que não calçam ferraduras em lugar de sapatos, melhor seria que não ostentasses esta tua arrogância de rico! — Vamos, vamos, não te disse que estás transtornado? Não é uma sovela, é um trinchete, pronto, não quis ofender-te. — Filho de remendão sou, sim, e herdei o ofício de meu pai. Não tinha um palácio em Leyden como teu pai, nem andava em coches de quatro hacaneias como tu, pois os moleiros como teu pai enriquecem da farinha que ninguém pode deixar de comprar e os remendões e sapateiros são gente humilde. Mas tanto um quanto outro estamos aqui em igualdade, igualmente parvos em haver posto fé em que aqui encontraríamos riquezas, fortunas, imensas searas, montanhas de ouro e especiarias, felicidade perpétua e paz de espírito, quando o que nos acontece é este buraco verde-bile e fétido, povoado de selvagens repulsivos, lama, mosquitos, ratazanas e febres espantosas, esta terra onde tudo é uma ameaça e nunca se tem sossego da Natureza ou do homem. Teu palacete em Leyden de pouco te vale agora. Gostarias de estar em tua cama macia, com teu caldo quente de beterrabas e cebola, teu barrete e tua lamparina, mas estás aqui e, se queres sopa de peixe, tens de rezar para que o trinchete de um remendão consiga fazer a pesca. — Sim, caldo quente... És casado? — Não. — Tampouco eu. Existe porém uma senhora... Uma menina, melhor dizendo, quase menina. Conheces as casas à beira do rio, as casas altas? Pois bem, ela mora numa delas, onde há um braço estreito do rio e um pontão que leva à casa. Chama-se Geertge, via-a na festa da colheita, cheguei a conversar com seu pai. — E te engajaste para esquecê-la? — Não, não, claro que não. Engajei-me não sei por quê, não precisava. Talvez quisesse alguma coisa que não fosse dada por meu pai, talvez seja o destino, não sei. Lembrei Leyden, lembrei Geertge, lembrei as beterrabas... Foste tu quem me fizeste lembrar. Comias pastelão de miúdos de carneiro? Lembras-te dos fogões altos de onde saíam os pastelões, cheirando a ervas nobres e a boa massa de farinha honesta? — Não me fales, torturas-me. Que espécie de peixes há cá? Não pode haver bons peixes em águas tão quentes, nada aqui é apropriado, nada daqui pode ser vivido aqui. Há coisas que podem ser tiradas daqui e levadas para bom uso cristão, mas o homem não pode viver aqui, é mundo para as raças serviçais e embrutecidas. — Come das peras amarelas — disse Eijkman, um pouco arrependido de ter cultivado assunto incômodo e inútil àquela hora, e já se preparava para levantar-se e colher um caju, quando o caboco Capiroba pulou de trás da capoeira e, rodando o cacete na horizontal com a força de um cata-vento, destroncou-lhe a cerviz de uma pancada só, após o que jogou a rede
em cima dos dois, puxou o laço corredio que a fechava, amarrou-a no cajueiro e ficou esperando que uma das presas aquietasse e desistisse de bacorejar, para não ter que dar-lhe também uma porretada, correndo o risco de estragar os dois e esperdiçar comida.
Maloca do caboco Capiroba, 26 de dezembro de 1647.
O holandês Sinique concordou em comer um pedacinho do holandês Aquimã depois de resistir uns dias esbravejando dentro do cercadinho, sacudindo os mourões de tal maneira que o caboco Capiroba foi obrigado, bem a contragosto porque tinha fumado erva de cabeça e queria ficar quieto espiando as árvores, a quebrar um dedo de cada mão dele. Evitava também assim que Sinique, cujos modos agitados e algaravia incessante já começavam a irritá-lo, cavasse um buraco para desalojar os mourões, como chegara a tentar. Podia deixá-lo amarrado, mas sabia não ser bom para a criação mantê-la atada, era definhamento certo. Tentou convencê-lo com bons modos, não gostava de maltratar o bicho sem necessidade. Mas ele se comportava como um caititu demente, insistindo em mostrar os dentes e coinchar seus sons incompreensíveis, e o caboco não teve jeito senão trespassar-lhe um arganel pelo focinho para melhor movimentação e aplicar-lhe umas bordoadas, embora não tão fortes quanto a única cacetada que tinha desfechado no holandês Aquimã. Este acordara o suficiente para andar de trambolhada todo o caminho do ribeirão à maloca, mas não conseguiu mais sustentar o tronco ereto e um dos braços não parava de tremer. As mulheres e as meninas o beliscaram, avaliaram a carne, acharam melhor fazer o abate logo, antes que o peso caísse demais, estava se vendo que era um animal doente. Foi assim que aprenderam os nomes deles, porque o holandês que permaneceu no cercado parecia mais desconsolado em ver o outro ser puxado pelas mulheres para o cepo do que uma baleia quando lhe sangram o filhote, e então gritava “Aquimã, Aquimã!” e esmurrava os mourões. O caboco achou interessante aquele canto tão repetido, ficou curioso, parou a pouca distância do cercado e sorriu para o holandês preso. — Aquimã? — perguntou-lhe, apontando divertido para o holandês que estava arrastando. O rosto do preso se iluminou. Seria aquele selvagem um entre os muitos que Schkopp tinha aliado aos flamengos? Certamente seria, havia reconhecido o nome de seu companheiro. — Eijkman, Okeman — falou, quase sorrindo também e tentando imitar a pronúncia do caboco. Encantado com a novidade, o caboco apontou desta vez para o preso: Aquimã? O preso respondeu que não, abanando as mãos abertas. — Zernike, Zernike! — falou, cutucando o peito com o indicador. — Zernike! Ah, então eram coisas diferentes, como se dava isto? O caboco comparou os dois com um olhar experiente. Mesmo tamanho, mesmos cabelos, mesma roupa, mesmos sons animalescos, provavelmente o mesmo gosto. Não se podia dizer que um fosse um aquimã e outro fosse um sinique, não havia diferença que justificasse duas palavras. Seriam nomes então, eles tinham nomes. O caboco se orgulhou de sua inteligência. Apontou para o que ia ser
abatido. — Sinique? — perguntou, rindo muito. O holandês abanou as mãos outra vez, meteu o dedo no peito: Zernike, Zernike! — Aquimã, Sinique! — falou o caboco, triunfante, depois de uma pausa para pensar. O holandês aprovou, baixando e levantando a cabeça com toda a força. O caboco riu mais aberto e passou a indicar um e outro ritmadamente. Aquimã, Sinique, Aquimã, Sinique, Aquimã-Aquimã, Sinique-Sinique. O holandês também riu, as mulheres e as meninas riram, quase cantaram uma cantiga: Aquimã, Sinique — hum-hum — Sinique, Aquimã — hum-hum, aquimansinique! Ai, fez o caboco, enxugando uma lágrima de riso no canto do olho, ai-ai. Quase começava de novo a toada, tinha até imaginado algumas variações e o clima de festa lhe agradava, mas já estava ficando tarde e este mundo não é só para a diversão. Ficou sério e disse “quietaí, vá deitchá” ao preso, embora sem muita convicção, porque sabia que, como os outros de sua espécie, era um bicho bronco, que não entendia as ordens mais simples. Viroulhe as costas resignado com a barulheira que recomeçara, levou Aquimã ao cepo, pôs-lhe o pé na cara com firmeza mas sem brutalidade e o sangrou pelo pescoço numa cuia de cabaceira com caldinho de limão da terra dentro, havendo preferido isto a achatar a cabeça, para não estragar muito a mioleira. Vu, a filha mais velha do caboco, ficou contente quando Sinique comeu um pedacinho de Aquimã, aliás não só um pedacinho, mas quase uma gamela cheia de carninha moqueada muito bem moqueadinha, com pirão de aipim. Ela tinha gostado do holandês e duas vezes o caboco a viu querendo fazer com ele o que o caboco fazia com as mulheres. O caboco sabia que aquilo estava errado, que era o holandês quem tinha de fazer como ele fazia, pondo a mulher de quatro, segurando a gordura do alto das coxas, passando cuspe e se despachando com ligeireza, mas teve preguiça de ensinar. Achou que Vu, do jeito que andava, se esfregando nos pés de pau de tronco liso e saindo para se esconder pelos matos horas seguidas, com certeza inventaria um jeito e de qualquer forma isto não era problema dele, que já tinha bastante com que se preocupar. E realmente ela descobriu um jeito, porque, depois que o caboco quebrou os dois dedos do holandês e lhe botou a argola no nariz, ele não conseguia mais empurrá-la e espernear assim que ela se agarrava às suas bragas, puxando-as para baixo. Quando ela finalmente o pôs nu da cintura para baixo, ele estava imóvel, pois, tão logo esboçou a reação costumeira, ela lhe apertou os dedos quebrados e amarrou a argola do nariz numa corda curta. E foi com grande sofreguidão que, não logrando vencer a engenharia das bragas, fraldas, culotes, laços e todo aquele tumulto de panos que cobria os quartos do holandês, cortou o que pôde com uma faca e o resto rasgou com os dentes. Ao vê-lo enfim exposto, as pontas dos pentelhos ruivos cintilando ao sol que passava em fatias por entre os mourões, Vu levantou o tronco ainda ajoelhada e, os lábios trêmulos, as mãos vibrando, o fôlego convulso, o sangue incandescente, o coração turbulento, quase sai voando por a princípio não saber como levar seu corpo todo, que parte dele levar, que partes dela encostar e apertar no holandês deitado e nu que ela agora mirava outra vez com um prazer quase insuportável, como se tivesse brotado uma cordilheira de arrepios, músculos e pele eriçada desde o meio dos peitos até abaixo do umbigo. Mas sabia, porque uma ondulação espasmódica e cada vez mais premente lhe chegava de todos os pontos ao meio de suas coxas e então, depois de acariciar o holandês com as mãos
em concha, juntando-as de leve e movendo-as para cima e para baixo como quem brinca de fazer água escorregar entre os dedos, sentou-se em cima dele com um movimento só, deu um gritinho e desatou a maior risada que jamais pensara poder dar. Passou então a volta e meia entrar no cercado, virar o holandês de barriga para cima e sentar nele com muitos sinais de felicidade, às vezes demorando-se de olhos fechados e oscilando levemente o tronco e os quadris, às vezes quase saltando como quem monta a galope, às vezes simplesmente enfiada e instalada, cuidando de um afazer ou outro e conversando. Por causa dessas idas e vindas ao cercado e de tudo o que ela fazia com o holandês, o caboco Capiroba pensou, ao vê-la prorromper luminosa lá de dentro, saltando de uma perna para outra e estalando a língua como gostava de fazer quando contente, que havia acontecido com ela o que de quando em vez sucedia com suas mulheres, as quais, principalmente uma delas, podiam comportar-se esquisitamente enquanto eram fodidas, tendo estremeções e fazendo barulhos de prazer. Se isto ocasionalmente aborrecia o caboco, forçando-o a mandar a mulher ficar quieta e a dar-lhe alguns cachações para que não tivesse um comportamento impróprio e incomodativo, também lhe trazia uma satisfação misteriosa, tanto assim que às vezes perguntava à mulher, logo após: teve coisa? Tive coisa, respondia ela, e ele ria satisfeito — carrá-carrá-carrá! — e dava um tapa na bunda dela. — Teve coisa? — perguntou o caboco a Vu. — Tu teve coisa hoje? Tou veno que teve coisa hoje, bom, muito bom. Mas ela simplesmente mostrou a ele a cuia vazia, cujo conteúdo Sinique havia comido. Ah, bem, isso. Sim, bom, o animal tinha finalmente resolvido comer o que lhe davam, pois antes insistia em não aceitar nada, quando a carne de Aquimã, preparada na forma de tantas iguarias, estava ali à disposição. O caboco cumprimentou a filha pela persistência, cansara de vê-la teimar com o holandês para que comesse, se alimentasse, não ficasse assim tão definhado, deixasse de recusar tudo, entornar as cuias no chão e grunhir tão lastimosamente. Agora pelo menos pegaria um pouco da encorpadura que já tinha perdido desde que chegara, evitaria que o caboco tivesse o trabalho de sair e matar outro tão cedo, muito bem. Vu passou a tarde alegre e, no dia seguinte, ensinou ao holandês uma nova arte, que era comer lambiscos da passarinha, da linguiça e da carne de sol de Aquimã, que ela lhe dava na boca em petisquinhos apaixonados, enquanto, já em minuciosos cuidados para não machucá-lo, certificando-se de que sentara na posição certa e com tudo dele que podia alojar aconchegado em suas partes, subia e descia vendo com ternura aquilo entrar e quase sair, entrar e quase sair, entrar e quase sair, até que, já tudo em torno das virilhas molhado e chocalhante, tudo induzindo a gritos e sentimentos indefiníveis, tudo tresandando a maresias enlouquecedoras, revirava os olhos, prendia a respiração e mordia o beiço, grudando muito em si as coisas do holandês, as quais lhe vibravam debilmente dentro das vísceras, um passarinho moribundo e arquejante, deixando lá, misturado com o seu, um caldo morno que depois escorria e que ela, sem saber por quê e sem mesmo notar, aparava dos riachinhos leitosos que lhe desciam as coxas e espalhava sobre a pele. Contou ao pai o que pôde sobre todos esses assuntos e o caboco gostou, embora não em demasia, de ouvir que tinha um holandês ensinado em sua criação. Pensou vagamente em possuir muitos holandeses amestrados, servindo-lhe fielmente em seu pedaço de terra, até o
dia em que a idade e a pouca produção aconselhassem o abate. Mas eram apenas sonhos, coisas que se conversam em tardes sonolentas, planos sem futuro. Tanto assim que, antes de a noite baixar, os portugueses, agora muito senhores da ilha outra vez, depois que os flamengos fugiram à notícia da vinda da esquadra de João IV , entraram facilmente no apicum, aproveitando a maré alta e passando em catraias de fundo chato por cima da água rasa que cobria a lama. O caboco se acostumara à segurança de seu apicum, esquecera das marés e dos barcos e não avaliava ainda o que significavam os cachorros mateiros que agora vinham juntos com os portugueses, bichos barulhentos e sem pelagem certa, de dentes como os de uma onça, a qual tinha medo deles. Também não conhecia outras modernizações, como o pequeno arcabuz que um português sacou da cinta para derrubar com um tiro no meio das costas a menina Rõ, que saíra correndo em direção ao matagal. Não desejava tomar um tiro também, não deu combate, ficou ali de pé, olhando as mãos e os pulsos como frequentemente fazia se não tinha o que fazer, não disse nada quando os portugueses lhe aferrolharam uma coleira presa a correntes, puseram-no em fila amarrado às mulheres e meninas e os despejaram às pressas nas catraias, para aproveitar a maré. Chegados a Vera Cruz, com o povo ajuntado para ver o grande caboco comedor de gente, gigante degolador, bebedor de sangue, pactuado com Satanás, opinaram todos que deviam ser mortos na fogueira, tanto ele quanto as mulheres e filhas. No entanto, a escassez de mão de obra engendrada por tantos combates e conflitos, as viúvas sem arrimo, os homens bons desvalidos de recursos para amanhar suas terras, tudo isso fez com que as mulheres e filhas do caboco fossem perdoadas e acolhidas caridosamente como escravas, inclusive Vu, grávida do holandês. O caboco foi enforcado de madrugada, olhando as mãos e pulsos amarrados, num jeito igual ao do alferes Brandão Galvão contemplando seus punhos agaloados e suas mãos que matariam o inimigo a fisgadas. Mandaram-lhe um padre, ele não objetou, ouvindo sem expressão as palavras em língua mágica pronunciadas com o braço direito levantado e ecoadas por alguns, na grande plateia que se formou para vê-lo estrebuchar. Seu último pensamento foi que talvez comesse aquele padre, se não tivesse jeito e a necessidade comandasse, mas sabia que a carne dele, a carne daquele povo todo ali, não se comparava à dos holandeses. E, enquanto lhe passavam o laço no pescoço, chegou a imaginar como teria sido bom se, em vez daquela carne de segunda ali congregada, tivessem vindo para cá desde o começo, e aqui ficado, holandeses superiores. Tão superiores que Sinique, assim que chegou, foi levado ao ferreiro, que lhe limou o arganel do nariz; ao barbeiro, que lhe fez curativos e lhe pensou os pequenos ferimentos que são naturais aos bichos brabos de cercado; à casa de uma família, onde lhe deram água esquentada, comida cristã e cama limpa forrada; ao conselho de guerra, que o condenou a ser decentemente fuzilado; a um poste, onde foi manietado, disse umas últimas palavras que ninguém entendeu, recebeu muitos balaços mal colocados e demorou um pouco a morrer. Quando sua almazinha disparou por cima da Ponta de Nossa Senhora em direção ao Poleiro, a do caboco Capiroba, aliviada embora ainda temerosa, já estava lá, querendo nunca mais voltar àquele lugar tão louco onde vivera, mas inquietíssima por apenas saber que devia haver outros lugares e nunca ter aprendido onde ficavam eles.
3
Salvador da Bahia, 9 de junho de 1827.
O escaler pareceu mergulhar e, durante um momento breve, só os chapéus de sol das mulheres quedaram visíveis acima das marolas. Perilo Ambrósio especulou que, com todos aqueles vestidos, anáguas, saiões, mantéus, justilhos e mais tantas construções de pano e barbatanas, dificilmente, se o barco afundasse, os dois marinheiros poderiam salvá-las, inclusive Antônia Vitória, como sempre a mais enfarpelada de penduricalhos e atavios absurdos. Mas naturalmente que o escaler não afundara nem afundaria, e não gostava disto, não gostava de ter de fazer a execrável travessia para a armação de baleias em dia de mar picado, não gostava daquele farrancho todo que Antônia Vitória, também como sempre, havia arregimentado, não gostava do mormaço que o deixava em banho-maria dentro do casaco de gabardina, não gostava de navegar na barca a vapor com sua caldeira de cheiro enjoativo e seus negros barulhentos, não gostava de ter que conversar com todos os convidados ilustres que com ele aguardavam o regresso do escaler à praia da Conceição, detestava a ideia de fingir interesse pelos festejos de Santo Antônio no engenho de frigir, detestava repetir explicações tediosas sobre a armação das baleias, as plantações e os escravos, detestava ser obrigado a conviver com as normas, regras e restrições que Antônia Vitória impunha nas grandes ocasiões como esta, detestava tudo o que aconteceria nos próximos dias, odiava Antônia Vitória, domingos na ilha com a família, enteados tansos e desagradáveis, parentes abomináveis, comidas e maneiras finas, animais de aparência asquerosa, discussões sobre a lavoura e os preços, perguntas sobre se vaza ou enche a maré — tinha vontade de matar alguma coisa. Pensara em acordar sofrendo da gota outra vez, contorcendo-se em dores e urrando se alguém lhe tocasse os pés, mas, mesmo que Antônia Vitória fosse sozinha para a ilha com seu séquito para cumprir as promessas desmioladas que todos os anos fazia ao santo de sua maior devoção, não se livraria dela. Pelo contrário, o que se poderia esperar seria a presença diuturna de algum boticário enfiando-lhe arrobes e tisanas e do cirurgião Justino José com suas lancetas sinistras, suas sanguessugas repulsivas, seu cheirar de urinas e remexer de fezes, seu aspecto carontiano, suas advertências lúgubres, seu riso vampírico. E mais a espionagem feita pelos negros e negras da casa do Bângala, que não ousavam desobedecer-lhe as ordens para que servissem todas as comidas e bebidas interditas e despejassem nos penicos aquelas triagas fedidas que jamais beberia, mas, assim que Antônia Vitória voltava, contavam-lhe tudo o que sucedera, apesar das ameaças e dos ataques de fúria contra a negralhada que o acometiam. Antônia Vitória, com sua capacidade infinita de falar a mesma coisa durante dias, semanas, meses ou anos, o forçaria a entocar-se em qualquer lugar onde a voz dela não o alcançasse, para não tresloucar de uma vez. E também faria queixas ao pai. Perilo Ambrósio lembrou amargamente que casara com aquela viúva branca como alvaiade, quase tão gorda quanto ele, de olhos muito diretos, nariz agressivo e voz metálica, orgulhosa dos dentes esculpidos em marfim que lhe recompunham de maneira ofensiva parte da arcada superior, porque assim
entraria para o ramo comercial através do Empório e Trapiche Soares de Almeida, do português brasileiro Afonso Soares Matinho de Almeida, pai dela. Mas o sogro se mantinha distante e suspeitoso, o que de início mortificava Perilo Ambrósio e agora apenas o incomodava, porque o velho cada vez mais afundava na doença e na debilidade e, se Antônia Vitória tinha alguma boa qualidade, esta era ser filha única de pai viúvo velho. O escaler bordejou a mancha escura dos arrecifes submersos, anegou de novo a proa, ressurgiu quase feérico entre os cetins e filós multicores da companhia feminina, embicou para a barca fundeada ao largo, os negros se levantaram para manejar o cordame e acostar. Perilo Ambrósio, adivinhando com enfado as palavras que Antônia Vitória estava dizendo aos moços da embarcação enquanto arrepanhava as saias e pela outra mão era puxada a bordo, desviou a vista e sorriu para o cônego visitador D. Francisco Manoel de Araújo Marques. O cônego respondeu de forma curiosa: fez uma espécie de bico e curvou a cabeça bruscamente. Perilo Ambrósio não soube o que falar, não tinha realmente desejo de conversar e não lhe ocorria coisa alguma. — Dentro em pouco já lá estaremos — disse finalmente. — Já se acomodam as senhoras na barca, logo vem de volta à praia o escaler. — Sim, sim, vejo que sim — retrucou o cônego. Bateu a cabeça de novo, lembrando um frango a examinar à distância algo ciscado inesperadamente. O chapéu, preto e lustroso, de abas larguíssimas e ornado de borlas felpudas, agitou-se como se fosse levantar voo, mas estava preso embaixo do queixo por uma trança de couro preto terminada em engastes dourados. O cônego ajeitou o chapéu com gravidade e a expressão de quem considerava aquilo uma tarefa complexa. Atarraxou-o na cabeça, apertou o passemanes no queixo, verificou o nó com o polegar, espanou as abas de volta a seus contornos de cogumelo e, depois de passar um instante com o olhar vazio de quem se concentra para constatar se está tudo em ordem, mirou Perilo Ambrósio como a esperar aprovação ou admiração. Descia uma viração fresca, o movimento das cinco horas da manhã já ficava intenso, saveiros e canoas encostavam cheios de peixes e frutas, uma multidão pequena se apinhava junto aos outros dignitários, embaixo das mangueiras distantes da praia. Queriam ver a barca a vapor, pois esta era diferente da primeira que atravessara a baía, havia muitos anos. Era menor, não era tanto quanto a primeira uma aparição do outro mundo, mas, agora que suas pás em roda refletiam o sol saindo de trás das nuvens, sua comprida chaminé encimada por uma coroa de ferro soltava tufos de fumaça parda e seus flancos, em esguichos sibilantes, bufavam turbilhões de vapor e gotas-d’água que a luz fazia rebrilhar dando a ela uma moldura irisada, ninguém pôde conter a admiração. Ainda mais que, para levar sua esposa, a baronesa Dona Antônia Vitória, sua comitiva e seus convidados à festa de Santo Antônio, o barão de Pirapuama, ali de pé com simplicidade em companhia de Sua Reverendíssima, supervisando as providências, havia fretado a barca à custa de generosa despesa e muitos esforços — não era coisa para todo dia e para o alcance de qualquer um. E o povo também queria ver os conselheiros, os lentes de gramática latina, o juiz de órfãos e outros que lá se encontravam debaixo do pálio ornamentado com um brasão, que o barão fizera seus negros trazer de casa para desdobrar sobre as cabeças dos hóspedes, enquanto eles aguardassem o embarque. O cônego virou-se na direção das mangueiras, apontou para o grupo com a mão aberta.
— Não será de bom alvitre dizer-lhes que se aprestem? — falou com alguma impaciência, repetindo o gesto de cabeça que já começava a enervar Perilo Ambrósio. — Ainda temos mais uma viagem de escaler além daquela que nos transportar, pois há tantas bagagens e arcas e baús para que esses negros as levem a bordo que receio chegar-nos este temporal que nos ameaça antes de conseguirmos livrar a barra. Se não importuno o senhor barão, é claro, não desejo absolutamente ser importuno. — Vossa Reverendíssima não importuna, nem pode importunar. Vou tratar de chamálos, naturalmente, mas apenas peço vênia para dizer a Vossa Reverendíssima que não existe motivo para temer que nos venha um temporal e, como vê, já baixam estes alísios aqui vulgares nesta época, sai o sol, não faz medo este tipo de mar que temos e tampouco vamos precisar livrar a barra, como pensa Vossa Reverendíssima. Vamos a costear a ilha, bem dentro deste golfo cujos contornos vê Vossa Reverendíssima, em mar muito protegido. E nem mesmo necessitaremos ceder aos caprichos do vento, que por vezes nos obriga a andar à banda, a cambar, como se diz cá, isto porque a barca vence a distância pela força das máquinas e caldeiras. O cônego fez novo bico, deu a impressão de que não pararia de bater a cabeça até que o pescoço estalasse. — Sim, sei-o perfeitamente — falou. — Mas, se me perdoa a franqueza, talvez mesmo a rudeza com que digo isto ao senhor barão, esta é bem a razão por que pareço açodado. É que essas máquinas a vapor... Sabe que explodem, não sabe, que lhes estouram as caldeiras e reduzem tudo em volta a estilhaços e farrapos com tremenda força, não sabe o senhor barão? Imagino que, se encontrarmos correntes contrárias, as quais lhe forcem os mecanismos e engenhos de propulsão, em boa nos haveremos de meter. — Ah, mas não conhece Vossa Reverendíssima os aperfeiçoamentos que esta máquina moderníssima já apresenta, talvez não seja como as que há visto Vossa Reverendíssima. — Hei visto de todas as feições e todas as concepções — disse o cônego, com desdém mal disfarçado. Assumiu uma postura professoral, articulando as palavras quase sílaba por sílaba e pontuando a fala com o polegar e o indicador da mão direita fechados em círculo. — Existem desses engenhos em Inglaterra e em França, em toda a Europa, a bem dizer. Portanto, conheço-os muito de perto, visto que, mesmo antes de ter Sua Santidade agraciado este servidor com a conezia que procuro humildemente honrar, já me concedera a Providência a dita de percorrer não só esses Estados e reinos como muitos outros. E em verdade digo-vos, senhor barão, mesmo nessas civilizações avançadas, onde o espírito do homem não é pervertido por uma natureza luxuriosa e corrutora, onde a mestiçagem não estiola o sangue e o temperamento, onde, enfim, é possível existir o que aqui jamais será, ou seja, uma cultura e vida dignas de homens superiores, mesmo nessas nações estas máquinas não deixam de oferecer perigo. Estou certo de que a marinhagem de vossa embarcação é mesmo de primeira ordem e que seremos conduzidos com todos os escrúpulos, mas há de convir que melhor seria assegurarmo-nos de zarpar com o bom tempo que faz do que nos arriscarmos a enfrentar qualquer borrasca, com tantos pretos a equipar o barco. Perilo Ambrósio pensou em responder qualquer coisa, chegou a abrir a boca, mas logo concluiu que não valia a pena e deu com a mão para um preto jovem a poucos metros de
distância. Que fosse lá aos senhores conselheiros e demais figuras gradas e, depois de pedir licença sem gritar ou falar alto, desse o recado de que se chegassem à praia, pois deviam embarcar sem demora. O cônego rodopiou como quem caricatura uma meia-volta militar e acompanhou o negro com o olhar. — O elemento servil é indispensável para que se mantenha o país e a sociedade — comentou, cruzando as mãos às costas. — Nisto concordo, sem ele os custos tornar-se-iam proibitivos e não se poderia aspirar a transformar esta nação no celeiro do mundo civilizado e no fornecedor de algumas das principais riquezas de que depende a civilização. Mas há limites para o que se pode suportar da convivência com essas criaturas simiescas e obtusas, que estão neste mundo para que louvemos a Deus pelo nosso destino de homens normais e para que ponhamos à prova nossa caridade. — Sim, a mim também me causam espécie os negros. Tenho-os em quantidade porque o serviço do engenho, das fazendas e da armação requer muitos braços. Mas são tantos os cuidados que me dão, tantas as despesas e desgostos, que às vezes pergunto-me se não estava melhor sem eles. — Não, não estava. Mas que lá é duro ter de aturá-los, lá isto sei que é, é o preço que pagamos sobre tudo mais o que suportamos neste vale de lágrimas, temos pois que tornar este fardo pesado tão ameno quanto possível. Dives placet ubique, pauper ubique jacet, já diziam os antigos, não? Eis que vêm de lá, finalmente. Mas que cortejo formidando, não há guarda para conter aquela malta que os cerca como sabujos às raposas? Depois de um bailado louco à beira d’água, o escaler trapejando, os negros como formigas tontas, fardos, remos, baús, trouxas, exclamações, risadas e confusão em toda parte, D. Araújo Marques se recusou a embarcar como todos os outros, nos braços de um escravo para não molhar os pés, e assim tiveram que sentá-lo numa cadeira tomada emprestada à casa da paróquia e carregá-lo para dentro do escaler como um santo no andor. Já a bordo do vapor, Perilo Ambrósio notou com satisfação que as mulheres estavam acomodadas no tombadilho à popa, sentadas em suas poltronas de vime e fazendo as negrinhas correr para lá e para cá, ocupando-se de tarefas inúteis. Muito bem, assim é que deve ser, que lá fiquem, que lá ninguém as irá incomodar, nem cá venham elas incomodar. Logo que chegara ao tombadilho, esfalfado apesar de todas as mãos que o ajudaram escadote acima, percebeu que o comandante, cuja voz de entonações esquisitas e anasaladas reconheceria a qualquer distância, acomodava cerimoniosamente o cônego e os outros convidados, ajudado por Amleto Ferreira, o guarda-livros. Perilo Ambrósio, como sempre acontecia diante de visitas importantes, não gostava muito de que se patenteasse, embora fosse inevitável, sua dependência em relação àquele mulato sarará, magro e um pouco melhor falante do que seria conveniente, que agora fazia um rapapé ao cônego e se retirava, quase andando de costas. Espero que o comandante não venha declamar seus discursos e exposições, desejou Perilo Ambrósio. Na popa, os três enteados, Vasco Miguel, Florbela Maria e Felicidade Maria, jogavam sortes com as negras, Antônia Vitória fazia exortações de conteúdo moral e exemplar a todos, Teolina, mulher de Amleto, vigiava as crianças que brincavam com as negras. Ele marchou pesadamente para a cadeira junto ao cônego e ao juiz de órfãos, segurando-se em tudo porque tinha medo de escorregar com a leve oscilação da barca, e sentou-se com um suspiro. Eis finalmente a alegre navegação, as rodas se movendo a princípio tão devagar que
mal se notavam, ouvindo-se somente o barulho da casa de máquinas, as sinetas do comando e os gritos dos negros maquinistas e foguistas. Mas em seguida ficaram um pouco menos lentas, logo apressadas como patas de marrecos espadanando água, um apito rouco enxotou as gaivotas da manta de peixes que perseguiam ao largo, a proa apontou para os costados da ilha, subindo e descendo com suavidade. D. Araújo Marques bateu a cabeça duas ou três vezes, aparentou sorrir. — Navega bem — disse. — Creio que as caldeiras vão ajustadas a apuro. Apesar da umidade permanente das atmosferas desta região, é forçoso admitir que o calor facilita a introdução do elemento flogístico na lenha a queimar. Com duas palmas entusiasmadas e um riso talvez alto demais, Amleto Ferreira aplaudiu o cônego. — Amleto Ferreira, meu guarda-livros — interferiu Perilo Ambrósio apressadamente. — Pessoa muito querida da casa, meu braço direito. O cônego pareceu não ouvi-lo. Sua cabeça agora, em lugar de bater para baixo, subia por estágios, em pequenos pulinhos que finalmente lhe inclinaram agudamente a linha do olhar em relação ao pescoço muito ereto e davam a impressão de que, mesmo sendo baixo, ele tratava com todos por cima. — Achou facécia no que eu disse? — perguntou, apontando o nariz para o lado e as pupilas para o guarda-livros. — Sim, pois. Tem Vossa Reverendíssima muito espírito, sim. Sim, pois, não perceberam todos? A cabeça do cônego, agora tornada menor pela ausência do chapéu, imobilizou-se. — Perceberam que coisa, se me faz favor? — Perceberam que Vossa Reverendíssima lançava um chiste, procurava fazer ironia com a perícia dos maquinistas. — Não fiz ironia alguma. — Ah, sim, permita-me Vossa Reverendíssima, não foi uma ironia, quando referiu-se ao flogístico? — Naturalmente que não. Disse uma coisa perfeitamente sensata, que qualquer parvo sabe, e esta coisa é que o flogístico se impregna nos materiais combustíveis com mais facilidade quando a atmosfera é morna como esta. — Ah, desculpe-me então Vossa Reverendíssima. Pensava eu que, referindo-se ao flogístico... Perdão, Excelência, um erro de julgamento. — Mas que coisa pensava? — Não, não pensava nada, compreendi mal. — Que coisa pensava? Anda, homem, perdeste a língua? O cônego, começando a silabar as palavras da mesma maneira que antes na praia, olhou em torno, mãos erguidas para cima à altura dos ombros, como nas estampas do Sagrado Coração. — O flogístico, sim, explica-me o flogístico — entoou. — Com certeza pensavas que eu inventava palavras, que fazia uma pequena chacota. Mas não, meu caro, não inventei esta palavra. O senhor barão mesmo a conhece, conhecem-na todos os que frequentaram as boas
escolas e liceus. — Também eu a conheço, Excelência. — Chame-me de monsenhor, prefiro. É uma adaptação razoável do termo francês monseigneur e, afinal, é um título preferível a excelência, pois não o concede Sua Santidade, o Sumo Pontífice, a qualquer um. Disse-me isto mesmo pessoalmente Sua Santidade, em uma das nossas muitas audiências em Roma. Excelência são todos, até mesmo Vossa Excelência... Falou continuando a olhar em redor, marcando pausas, fixando às vezes o rosto de um circunstante, às vezes cerrando as pálpebras e se deleitando com as próprias palavras. Ao dizer a última frase, encostou e separou as pontas dos dedos estendidos, cacarejou um riso cujo eco imediatamente comandou dos presentes com o olhar e foi obedecido. Amleto, pálido como um ex-voto, empertigou-se sentado à beira do banco. — Mas, sim — continuou o cônego. — Eu mesmo desvio o assunto. Estava Vossa Excelência a dizer que conhece o que vem a ser o elemento flogístico e, não obstante, julgava galhofeira uma observação perfeitamente comezinha a respeito dele. Portanto, cetera desiderantur. Há que esclarecer algo neste fenômeno singular quanto antes. Periculum in mora, ha-ha! Anda, pois, deslinda-nos o mistério. — Pensava eu que Vossa Reverendíssima, Monsenhor, ao mencionar o elemento flogístico, queria referir-se chistosamente a um conceito que, segundo posso apurar das poucas fontes de leitura e informação que estão a meu alcance, já é tido como da filosofia natural antiga, sabendo-se que hoje a moderna ciência dos corpos inanimados tem o fogo na conta do resultado da combustão de gases, tanto assim que... — Como disseste que te chamas? — Amleto Ferreira, para servir ao monsenhor. — É nome cristão? Amleto, nunca ouvi. — Tem origem numa lenda inglesa, segundo sei, num poema ou tragédia inglesa. — Numa tragédia inglesa, num poema? Temos aqui coisa, então, temos coisa! A Inglaterra é excessivamente benévola para com os poetas e as artes frívolas. Se também tivesse músicos, estaria perdida. Então teus pais são leitores de livros profanos ingleses, é assim? Que livros são esses? — Não sei bem, monsenhor, o meu pai é inglês. — O teu pai é inglês? Mas temos coisa, temos mesmo coisa! Mas és pardo, não és? Não mais vigoram as ordenações que vedavam aos pardos as funções públicas, podes falar sem susto, que, depois de bem servires ao senhor barão, poderá arrumar-te ele um bom cargo de meirinho ou, quem sabe, almocreve da freguesia, para que passes a velhice à farta e sem nada fazer, ha-ha! E onde está esse teu pai inglês, que faz ele? — Vive na Inglaterra, não temos notícias há muitos anos. — Na companhia da senhora tua mãe, naturalmente. Diz-me lá. — Não, monsenhor, minha mãe vive cá na Bahia, com a graça de Deus, e é professora das primeiras letras. — Sem dúvida. É liberta. Pois. E o senhor teu pai inglês? — Era embarcado, aportou à Bahia embarcado. — Corsário? E não o enforcaram os soldados de El-rei? Ha-ha! — Não, monsenhor, era embarcado num vaso mercante.
— E criou-te alguma Ordem Terceira de pardos? Hão de ter-te criado bem, já se vê que és versado e no falar não cometes solecismos abusivos, como os que aqui tanto se escutam. Saberás contas bem, igualmente, do contrário não estarias como guarda-livros do senhor barão. — Criou-me a minha mãe, com a ajuda de Deus. Há aulas públicas na cidade onde nasci, pude estudar... — Sim, bem vejo. Bem vejo que tens algo no bestunto e a esperteza natural dos mestiços, que pode ser-te muito útil, de muita valia na vida. Isto se conseguires vencer esta tua tola arrogância, comum em quem subiu da lama, mas, sem embargo, prejudicial o suficiente para que te metas em assuntos de que não entendes. — Mas, monsenhor, dizia eu... — Caluda! Já tive paciência em demasia contigo e agora não faço mais chistes como estive a fazer, falo sério. Mostro-te a verdade à maneira socrática. Sei que não entendes de filosofia e, se ouves falar em Sócrates, imaginas que falam de algum outro inglês que haja visitado a casa de tua mãe. Mas não tem importância, faço-te um par de perguntas e já te demonstro a falsidade de tuas razões pueris. Senhor guarda-livros... Como é mesmo o tal apelido anglicano? — Amleto, Amleto Ferreira. — Curioso apelido para um brasileiro, curioso nome para um inglês, devo lembrar isto para contar na Corte em França, terá lá seu gozo. Pois muito bem, Senhor Amulete. Pergunto-lhe, e por favor responda com tão poucas palavras quanto lhe seja possível: e por que não se opera esta famosa combustão de gases, se não chegam lume à lenha ou se não lhe dão com as faíscas de uma pederneira? — Falta o impulso inicial da combustão, a reação... — Que impulso é esse? — O impulso dado pela chama já em combustão. — E que contém essa chama? — Material combustível e gases em combustão. — Muito bem, para essa chama arder foi necessário que lhe encostassem outra que a acendesse e outra que acendesse esta e outra que acendesse est’outra e assim ad infinitum. E a primeira de todas as chamas, como teria sido feita? — Por vários métodos, imagino. — Encostando-lhe uma chama ou outra espécie de lume qualquer? Como, se não havia chama, se pergunto sobre a primeira, a primeira das primeiras? Abriu os braços já de pé, rodou vagarosamente, encarando a cada ponto um setor da plateia silenciosa, alguns concordando gravemente com as cabeças e cochichando a respeito da petulância do sarará, em querer levantar-se à altura da sabedoria imensa que, com seus vestidos e mantos pretos, agora quase pairava sobre eles. — Como, se não havia chama, se pergunto pela primeira, a primeira entre as primeiras? — repetiu o cônego. Amleto Ferreira, sentado na mesma posição, engoliu em seco. Sentia-se tonto, tinha certeza de que as palavras não sairiam mais da garganta, não sabia para onde olhar, mas ainda
quis falar. Não passou, contudo, de uma sílaba, porque já a assembleia murmurava em êxtase a respeito do triunfo de D. Araújo Marques e já ele dava a estocada final. — Querem os naturalistas ímpios — disse muito alto — fazer revogar a existência do elemento flogístico, como querem revogar a própria existência divina, é uma analogia inevitável para eles. Mas não, senhor guarda-livros, a mera lógica, sem o recurso à fé, desmoraliza-os. A mera lógica! Agora mais próximos da costa da ilha, podiam ver algumas praias, casinholas, plantações, longas e recurvas cercas de ossos de baleia, uma ou outra canoa encalhadas na maré baixa. O dia não estava bonito, mas o mormaço quase se fora, o sol enfrentava apenas umas poucas nuvens transparentes, a popa abria uma onda contínua, que prosseguia até perderse de vista. Um cardume de peixes-voadores pulou fora d’água como pedrinhas cintilantes, os meninos gritaram. Perilo Ambrósio levantou-se, pegou o braço do cônego, foram até a amurada. — Na verdade — disse Perilo Ambrósio com a mão estendida para fora —, estas terras cá já são das minhas, embora aqui só as ocupe com cana-de-açúcar, como pode divisar daqui, pois aquelas manchas mais claras são das espigas de cana. Na Armação do Bom Jesus, em Amoreiras, aonde estamos indo, possuo mais ou menos três mil, três mil e poucas braças de costa a contracosta e uma testada, segundo creio, de mais de meia légua. Temos lá um estabelecimento importante, porém modesto. Procuramos cercar-nos de algum conforto, embora sem excessos, como verá Vossa Reverendíssima, mesmo porque as baleias não nos têm rendido boas safras nos últimos anos, julgo eu que por força de más lunações. No ano passado, não capturamos mais que quarenta ou cinquenta madrijos e uns poucos baleotes. Os impostos e as contribuições, entretanto, continuam pesadíssimos, exigem-se sacrifícios sobre sacrifícios. — Quantas barricas de óleo extraem-se de uma baleia? — perguntou o cônego, a opulência desenrolada diante dele fazendo-o pestanejar repetidamente. — Bem — respondeu Perilo Ambrósio —, isto vai por conta do tamanho que tenham. Mas, de modo geral, uns trinta ou quarenta tonéis e mais carne barata, que se moqueia e se vende a quaisquer dez réis o arrátel, umas vintenas de toneladas de carne, muita dela imprestável a não ser para os negros. E em tudo isto temos os trabalhos e despesas que nos trazem os negros, as baleeiras e os armazéns de indústria, que estão sempre a precisar de reparos, pois que são tão torpes essas criaturas africanas que tratam das coisas do trabalho como se pertencessem a inimigos seus e não a seus próprios amos, que lhes dão sustento. Não sei se perfilhará Vossa Reverendíssima minha opinião, mas acredito que, a prosseguir a fraquíssima autoridade e o nenhum rigor com que hoje em dia se trata o elemento servil, a continuarem os cruzamentos entre pretos das piores cabildas de onde os arrebanham mercadores sem escrúpulos, e nos dias que correm o são quase todos, já não sei o que será da riqueza e da produção mercantil do país. — Não somente perfilho tal opinião, mas aprofundo-a! O instituto da escravidão, que do sublime Estagirita já houvera merecido a mais sábia, judiciosa, perspicaz e irrebatível defesa, pois que se arraiga na natural diferença de índole e propensão entre as raças e povos, não é, não foi, não pode ser, jamais será estrangeiro à Igreja! Sê-lo-á, antes, este conceito pervertido da servitude que hoje se vê praticado por cultores de um falso, perigoso e
principalmente herético humanismo. Tanto assim é que não há um só livre-pensador que se não ponha ao lado do saduceísmo que claramente constitui a teia de tais razões. Tenho grande medo de tudo isto, senhor barão. O tempora! Spes et fortuna, valete! A decadência da autoridade pública, a flacidez do espírito de honra e de decência, o pactuar com a insolência das classes servis, o abandono dos mais elementares princípios da hierarquia social, a confusão de valores e critérios, até mesmo a falta de uma verdadeira guerra, que eduque a grande massa do povo e lhe tempere a fibra, tudo isto, estimado barão, é-me causa de grande receio e pena por terra como esta, que, em mãos firmes e cônscias das verdades fundamentais, muito teria a dar à civilização europeia que aqui os bons mourejam por plantar e os maus por deitar abaixo. Abyssus abyssum invocat, senhor barão, não sei verdadeiramente onde vamos parar. O sudeste bateu mais forte, o chapéu do cônego aflou as abas como um grande morcego. E ele, os olhos muito abertos e os cotovelos no balaústre, continuou a discursar com veemência, enquanto a barca, mexendo suas rodas em compassos diferentes, aprumava para Amoreiras.
Porto Santo da Ilha, 10 de junho de 1821.
Primeiramente, Dadinha falou em pormenores sobre como o dia estava fresco, devendo ter sido a mesma coisa havia exatamente cem anos, quando ela nascera. Não sabia se também tinha sido um domingo, não lhe disseram ou, se lhe disseram, esquecera. Abanou a mão junto à orelha direita, como fazia sempre que se aborrecia por haver esquecido alguma coisa. Finalmente, afirmou que sem dúvida tinha sido um domingo, não só porque ouvira falar que, de cem em cem anos, todas as datas caem certo com os dias da semana, mas também porque a mãe dela, cujo nome nunca lhe revelaram, tinha contado a alguém que fazia muito fresco naquele dia em que ela nascera. Como os domingos são sempre mais frescos, explicou, deve ter sido mesmo um domingo, bem na hora do toque das vésperas. Divergiram dela, opinaram que o domingo era tão quente ou fresco quanto qualquer outro dia, apenas não se trabalhava muito, então o corpo não esquentava tanto. Apois, respondeu ela, apois não é a mesma coisa? Assim fresquinho, a viração entrando pela janela e panejando as fraldas da bata de madrasto que lhe descia do pescoço como os flancos de uma pirâmide. Fazia tempo que não andava mais, pois para levantar-se tinha de arregimentar a ajuda de muitos e para permanecer de pé era necessário que a escorassem. Mas não parecia ter cem anos, não parecia ter idade nenhuma, remoçando e envelhecendo para lá e para cá várias vezes durante o dia, ou no decorrer de uma simples conversa. E era muito majestosa, sentada entre almofadas de retalhos coloridos, xales de madapolão desfiado, contas e conchas de todos os matizes no pescoço, o rosto roliço emoldurado por um torso azul-esverdeado, à sua volta o cheiro leve das folhas de pitanga que ela fazia macerar no chão. Ao contrário das pernas, os braços e as mãos se mexiam com agilidade, enfeitando-lhe a conversa entre meneios de ombros e jogos sinuosos de cotovelos.
— Estou com quentura — anunciou. — Não está fresco? Pois eu tenho é quentura! Curvou o tronco para o lado, virou a cabeça parecendo que ia esconder o rosto e, a princípio quase imperceptivelmente, depois como se estivesse num terremoto, começou a sacudir o corpo enorme, oscilando no ritmo de uma gargalhada sem som. Os lábios, antes apertados, explodiram e ela dobrou-se para a frente, esticou os babados da bata, revirou os olhos, riu perdidamente, a cabeça enfiada na massa convulsa dos peitos, braços e colo. Ui-ui, fez ela, enxugando as lágrimas, e rebentou em nova cachoeira de risadas, desta vez sonoras, ás e és e ós modulados de todas as formas, a cabeça se movendo em contraponto com o resto do corpo. Logo deixou de haver espaço para qualquer coisa além daquele riso e então os presentes, negros que não estavam de castigo e podiam folgar no domingo, as visitas que tinham caminhado da Armação do Bom Jesus até ali para ver a sempre encantada grande gangana do mundo, os que, sempre que podiam, vinham estar com ela como diante de uma montanha velha e testemunha de tudo o que jamais aconteceu na Terra, a sala inteira, dos velhos aos meninos de braço, todos se abriram em risadaria, sapateando, estapeando as coxas e escondendo as bocas abertas com as mãos espalmadas. Ninguém esperava o grito que Dadinha deu. — Quessassim? — disparou ela. — Quessassim? Sem que nem mesmo os parentes de sangue e os que lhe eram mais chegados notassem qualquer transição ou movimento, ela não estava mais curvada e rindo, estava comprida como quem engoliu um coqueiro, empertigada e franzindo a cara com uma força tão completa que agora só se viam os olhos e a boca. O riso estacou igual a um atabaque comandado, o queixo desenhou dois sulcos na direção dos cantos da boca, o rosto emagreceu. — Ora, ora — falou. — O cem anos é meu, quem vai morrer é eu, quer dizer que só quem pode achar a graça é eu, que é eu que sei, ninguém mais aqui sabe. Cada qual que faça por onde poder chegar no seu cem anos e poder achar graça na hora de morrer, só pode quem tem direito. Depois que eu morrer, tem que chorar um pouco, o certo é esse, porém eu posso rir. Agora mesmo, que estava fresco, eu quis quentar o vento e quentei, por isso que me queixei da quentura e dei risada. Mas não é só isso que é engraçado, embora por aí a pessoa que sabe possa tirar tudo, porém só sabendo. Quem vai morrer é eu, só quem pode rir é eu. Pregueou mais a boca, pôs as mãos nas coxas e os cotovelos para fora, fechou os olhos. Muitos, quando ela dissera que ia morrer nesse dia com a mesma naturalidade de quem comenta que não vai chover, haviam pensado que mais uma vez ela queria pregar uma partida inocente, pois nunca se sabia quando estava sendo oracular ou quando estava brincando como uma mocinha. Mas o rosto afilado numa máscara aquilina desmentia que houvesse brincadeira naquilo. Ao começar a fala, via-se que era ela mesma, séria e ao mesmo tempo irônica, de uma gravidade aérea e de tantas aparências fugazes como as coisas vistas em sonhos. Não eram entidades, pelo menos no início, quando sua voz cheia de curvas e picos rompeu o silêncio. — Eu vou ter de contar isso que já contei a um, já contei a outro, um pedaço aqui, outro acolá — disse ela, respirando fundo e abrindo os olhos. — Por isso mesmo, para não ser tudo musturado e ninguém se lembrar coisa com coisa logo depois que eu morrer, que eu vou contar o importante, respondo pregunta, digo preceito.
Compreenderam então que Dadinha ia mesmo morrer e se ajeitaram para aprender tudo o que pudessem e não envergonhá-la na hora da despedida, tendo ela feito o seguinte discurso, voz dó maior, por vezes lá menor, arpejos longos, acordes dissonantes, harmonias escrupulosas, compassos múltiplos, ataques surpreendentes, andamento expressionista, diálogos certeiros: “Rrrreis! Nachi na senzala da Armação do Bom Jesus, neta de Vu mais o caboco alemão Sinique, Vu essa filha do caboco Capiroba — rrreis! Prochantan, prochantan, prochotan, prrr-pprrrr, sai-se di qui, pipoco e zombeira no miolo! Arrum, prochantan, prochotan, sai-se daqui, desgrachado de estralo ni juízo, palavra de sangue com pecado no tinote! Sai-se di qui, có qui mioleira do caboco non goenta! Sai-se di qui, zombeira e assobeio, ha, vôte!” — Recebeu, gangana veia-veia? “Não, anchente. Capiroba caboco grande — rrreis! — faz mais de quinze anos que não vem, deve de ter entrado em cavalo novo nachendo, ficando sem querer. É um recebimento geral aqui, coisa daquele tempo, vem e volta, não é bem assim, nem bem assim não é.” — Caboco Capiroba salva os condenados? “Rrrreis! Caboco esse que fica nessa porta, com sua coita de prata pendurada e seus dois irmãos cabocos, Sinique mais Aquimã, que da luta nunca falta, vivendo hoje e amanhã. Crem-deus-haja, vissantíssima, val de lágrimas. Nachida no 21, começo do setechentos, meu pai eu não conheci, morreu no meu nachimento, antes do meu nachimento, minha mãe também não vi, mãe esta que foi vendida antes de me desmamar, partindo por Serigi para nunca mais voltar. Que quando eu fui nacher, naquela hora tinha dezoito almas doidas em Amoreiras e todas elas vieram para ne mim encarnar, tendo o cura porém dito que eu não ia me criar. Encarnou a minha alma por uma grande disputa, disputa que até hoje haja gente que discuta, fazendo com que visite, que nem a casa da puta, meu corpo mais de cem almas, por vezes em grande luta. Meu pai era negro baleneiro, tinha os olhos craros. Meu irmão mais veio-veio morreu de noite no trabalho do óleo da baleia, o tacho derramou ni cima dele, morreu queimado do óleo, morreu ligeiro, porém os negros do trabalho do óleo da baleia quase todos tinha a pele às vezes carne-viva às vezes bolhas e cascãos e muitos ficava cegos do azeite que espirrava e dos tachos que derramava, quando as trempes despencava. Como mais ou menos até hoje é. Minha avó Vu não falava língua, falava gritos. Que quando levaram ela nessa casa para trabalhar fazendo todo serviço, gritou e atacou a cozinha, quanto mais eles marrando no tronco e chibateando muito bem chibateada com todos os zorragues, o bacalhau, muito chambrié de corte, vergueiro e pingalim, troncos de pé, sentada de croca e de cabeça para baixo, mais ela atacando sem receio. Vestiram no sambenito, apertaram os peitos dela com o aziá dos bois, prenderam os dedos nos anjinhos, botaram para dormir de canga em cima do milho catado, ferraram em brasa espalhado pelo corpo, meaçaram tudo e qualquer coisa, quanto mais isso mais ela atacava. Então, por força daquela brabeza e todos pensando que o cão de satanás habitava ela, esperaram ela parir para aproveitar a cria e resolveram de enterrar viva de cabeça para baixo, cavando cova bem funda para muito bem enterrar, vindo o padre depois do enterramento para tudo abençoar muito bem abençoado, deitando água benta à vala, para Vu não sair de lá e novamente atacar. Caboca Vu muito braba, não deche, encarna na bananeira braba, quando muito. A pesca da baleia tem o cacharréo, que é o macho, o
madrijo, que é a fêmea, o baleote, que é a cria mamona, o seguilote, que vai junto da mãe mas já mistura a mama com comida, e o meio-peixe, que é o peixe novo que ainda ia crescer antes da arpoação. Canta-se mesmo como hoje, aruê-pã-pã, aruê-pão, eu queria pegar ela na barba do meu arpão, mas se canta mais ligeiro — aruê-pão-pão-pão-pão. Isso no desmancho da baleia, na pesca tem outras. O padre vem todo revestido benzer as lanchas que vão pescar a baleia, três lanchas sempre, poucas vezes quatro, não era chalupas, que essas chalupas hoje é como vaso de guerra. O padre benze as lanchas, que vão bem, bem, bem armadas, que estão todas baleias parindo neste mês por aqui tudo. O madrijo não deixa do baleote, não deixa do seguilote, então, quando o baleote vai forgando, forgando, forgando pela cima da água, todos sabendo que o madrijo ali nada ao pé, o baleote vai brincando e dando sartos e sartos e sartos pela ribança das ôndias igual como um boto, porém de pequeno juízo pela idade, quando então a lancha vai até nele, que espia eles como se fosse palestrar, e então eles só faz enfiar nele o arpéu, que eles despedem de perto porque o baleote nada sabe e não tem medo deles. E nisso matam o baleote com esse arpéu, que é o mesmo arpão, porém menor e com mais esgalhas e barbilhas para a finalidade de doer para o baleote chorar bastante, matam ele e amarram no costado e então chega a mãe, que ouviu os gritos e choros e também já vem chorando, e então eles metem nela o arpão grande, saindo ela correndo léguas e léguas caçada pelas três lanchas, e botam no meio a lancha que traz o filho atilhado, porque ela, malferida e malcansada, assim mesmo volta para ver a cria, e dão novas corridas e então novos arpãos e mais as coisas e as meias-luas e as foices de baleia e muitos ferros, então ela chora muito como uma pessoa e bota sangue esguichando numa poeira d’água encarnada, ficando o mar todo também encarnado e então morre essa baleia e seu baleote e vão arrastando eles em fileira para a Armação, com as queixadas e as bocas amarradas de boas cordas para a água não entrar por eles adentro, bem como os peixes que gostam de entrar pela boca da baleia e os bichos que bebem o sangue dela.” — Que bicho é bom não comer, estando nas regras? “Veneno, não comer. Peçonha, não comer nem beber. Quizila, não comer. Peixe niquim não tocar, peixe beatriz não pisar. Água de tofo, velenho com memendro, cocó, tramonha, trovisco, baiacu, tudo, tudo, minha filha. Rosargar... Coidado! Não comer na má companhia, tento nisso! Não comer comida feita por amigo que foi inimigo, muita atenção! Ah! Ah! Ah! Tuí-tuí-tuí! Santo Calendê evém aí, meu povo, é no dia 23, esse menino, faz o edê do homem, esse menino, lobara Exu Lonan, vem cá, vem cá, Aloriê!” — Recebeu, gangana veia-veia? “Danguibé, cobra do mato! Hiu-hê, ssssiu! São Lourenço é o tempo, é daqui! Obessém no céu, muito do enfeitado! Avriquiti, ui, ui, ui, ui! Vamos com Dão Pedro debaixo do pau de loco, tocando no amelê e nosso batá-cotó, viva o reis da Bissínia, bom caboco Salimão Darissa, da terra da Abobra!” — Tá vendo tudo aí? “Caje-caje. Mas qué-quié-quié-quié, menino? Mmmmm! Mecreia muntcho, é como lhe digo: emô-jubá, ebô-coxé, tudo musturado aqui, uma pintura verdadeira! Ói os 12 pá de França, criatura, mas que rebrilhosidão! No fardamento da rainha de Xabá, do sino de Solomão, da batalha de David, marvia grande aqui, coisa de premeira, êi patuscada valente! Venha de lá, princesa da Guiné, festejando a festejar! Comidas, então, todas especes! Menino!
Aqui, nem lhe conto!” — Coisa da mariposa Curuquerê aí? “Nada disso. Essa veio na cabeça dos padres e do que benzeu a testa do valeroso caboco Capiraba — rrreis! Rrrrreis, rrrreis, ai! Na hora de descabeçar ele e garguelar, ai! Hum-hum, haaan!” — Recebeu, mãe gangana, chegou ele? “No setechento, no setenta ou no oitenta, quando nem sombra de nada disso tinha aqui, só as baleias e as mesmas gentes, assim ou não assim, chegou Darissa da Bissínia, que era maluco, maluco, muitíssimo variado. A cidade da Bissínia é Diz-Abobra, ele porém não trazendo abobra, trazendo religião antiga, que aqui não pôde combater. O povo dele é Galinha, porém também não trouxe galinha, nem fazia cococó. Foi antes que botaram os padres regular zizuítas para fora, le conto, hum-hum. Tinha o grande reis Zuzé, que ficava no reino, no pombá do Marquês, que me chegou lá assim e disse: não quero mais saber, me comprenda uma coisa, não quero mais saber de zizuíta em minhas terras, foi zizuíta aqui, zizuíta fora, he-he-he-he! Rebanharam tudo, levaram bem, bem longe, botaram na Jiquitaia, he-he-he! Zizuíta descarado, juntaram, botaram em ferro, coronel Gonçalo levou para no reino castigar, o navio carregando para bem mais de centos padres, hi-hi-hi-hi! O bispo Zuzé Boteio, muito sem graça com isso, se despediu sem receio de seu lugar de alcebispo, indo morar de permeio cas freiras de Itapagipe, he-he-he-he-he! Não foi esse o padre Roma, que com seus filhos mataram, padre Roma esse sendo muito dispois na história, foi por fazer sedição que lhe deram o cadafarso. Disso botaram um pasquim comprido na porta da igreja, sendo sacrilejo mas sendo perdoado, por ser padre filheiro e além do mais sediceiro, na uma, nas duas, nas três eu não fico, ca sua saia de renda de bico, ponha a laranja no chão tico-tico, he-he-he-he-he, tem cachimbim aí, cachimbim?” — Raiz de dandá é bom? “Dandá é. Pestenção nas santidades: todos os santos, muntcho bem, muntcho bem, Santo Antônio, a Santa da Conceição, muntcho bem, mas se valha mais do santo de sua cor, lembrando que negro escravo cativo não usa nem baeta de holanda nem cordão de ouro, tenção nas coisas, é só ver. São Solomão lutador, a reza vai, bata parma aí, bata parma: hum, fecha-te corpo, guarda-te irmão, na santa arca de Solomão, aprendeu? São Elesbão, São Benedito Urumilá, Santa Figênia, vá lembrando mais, tchobém. Olho grande, a pessoa joga água fria, reza com pinhão roxo ou vassourinha mofina, faz cruz, faz cruz, vai fazendo cruz: Deus te fez, Deus te criou, Deus te livre das vista que mal te olhou, com dois te botaram, com três eu tiro, com os poderes de Deus, da Vilge Maria e de Zezus de Najaré, seu filho concebido sem mágoa e sem pecado. Se foi na cabeça, São João Batista, se foi nos olhos, Santa Luzia, se foi nos dentes, Santa Polônia, se foi no corpo, as três pessoas da Santíssima Trindade, Padre, Filho, Espírito Santo, se foi por ambição ou por despeito, se foi por ódio ou por vingança, tudo desparecerá no abismo do mar sagrado ou no confim da Terra onde não se ouve nem galo cantar nem boi berrar, com os poderes de Deus e da Santíssima Trindade. Um padenosso, uma vemaria. Banho de cheiro, ariaxé, bote nele arruda, bote marvarrosa, mangiricão, vassourinha, bote alecrim, toque fogo na páia, faça incenso, defume bastante, pronto. Dor de cabeça, o seguinte: São Fravião pregunta a São Lorião — aonde vais, Lorião? Ao que le responde
Lorião — vou ao rio do Jordão, por onde andou São João, buscar água da bem fria pra curar dor de cabeça, anxaqueca e nervagia, com os poderes de Deus e da Vilge Maria. Borrifa água fria, três padenossos, três avesmarias. Pontada, se pegue com São José. Mordida de cobra, São Domingos, também negócios com cachorros. Porrada na cabeça, Santo Esteves. Bostas presas, urinas presas, São Tolentino, bem como assim mulher ou besta entalada de parto. Impossives, Santa Rita; viajando, São Cristovo; pedrada, São Pulinaro; esfolamento, São Bartolomeu; creca e pereba, São Lazo; frechada e chuchada, São Bastião; tocando musga, Santa Cicilha; perdido no mar, São Quelemente; pescando de rede, São Pedro; pescando de vara, São Zenão; corte de foice, São Simão; curtindo couro, São Crispim e São Crispiniano; ferida pustemada, Santa Catarina; caçando, São Jorge; criando filho, São Gonzaga; coisa roubada, Santo Antonho; cabeça oca, Santo Inaço; sangue escorrendo, São Pintalião; doido lunátio, São Herme; dando tiro de canhão ou alcabuz, Santa Barbra, bem como assim no trovão e em todo estrondo; dor nos ovos, São Nereu, bem como assim criando galo capão; fazendo graça, São Filipe; mal do peito, São Cassemiro! Quando nenhum santo quiser acudir, chame São Juda Tadeu! São Juda Tadeu, não sabe, não é o Juda judeus, é o outro, porém se pensa que é o mesmo e então ele fica todo sastifeito quando se chama ele e nunca deixa de vim, lembre isso. O ensalmo da azia é com Santa Iria, repetindo três vez: Santa Iria tem três filha, uma fia, outra cose, outra cura o mal de azia. Bicheira de boi, reze pelas cinco chagas de Nosso Senhor, começando: mal que comeis a Deus não louvais! E nesta bicheira não mais comerais! Asma, moa buzo peguari, ou senão cavalinho-do-mar torrado bem moidinho, tome com água, passa tosse e pio do peito! Samambaia do brejo, cravo-da-índia e mel de abeia, bom, bom, bom! Garrafada e emprasto de erva-santa! Arueira! Mulungu! Pau-de-leite! Leve aguiri debaixo do subaco quando for à luta, aperpare bem aperparado! Reze reza ê-tutu! Se cubra, não aceite polseira nem cordão de prenda, nem nada que amarre, não deixe ninguém passar a mão na vossa cabeça, tou avisano, laralá-lerelé! Cê que se vire de costa pra janela e guinorando a porta, cê que aceite qualquer de comer, cê que vá confiando, cê que vá contando o seu particular, cê que vai ver o que cê vai ser, he-he-he, ai meu Deus, nem sei... Coidjado com sapo-cururu, hum-hum! Num impreste sal na sexta, não batize, não corte nem unha nem cabelo na sexta. Primeira segunda-feira do mês de agosto, nada de pescar, nada de ir na fonte! Nada de contar os peixes que se vai pescando, os siris que se vai botando no cofo, nem os mariscos que se vai catando! Casando no dia de Santana, a mulé morre de parto! Desafastano do ferro e do metá, na hora que a trovoada vai roncá! Matar aranha atrasa, guardar aranha enrica. Para fazer nacher depressa, queime arueira, defume bem, reze o seguinte: vai fumacha para que meu filho nacha. Não molar faca na Sexta Santa! Mulé que toca sino não pare mais! Pestenção em Dona Catiti, lua nova, pestenção! Dona Catiti em mês de outubro, que acontece? Trovejou! Se nos nove continua, é chovida toda lua! Vento norte até meidia, temporá no outro dia! Mostre o cu do filho logo que puder a Dona Catiti! Peça dinheiro a Dona Catiti! Lua nova, he-he. Porém só plante na lua cheia.” — Muita gente vai ganhar furria, gangana veia? “Furria só se for que nem a minha, que fui furriada de promessa e as pernas já mal andava, depois de criar no peito quase que toda a família, do bisavô no bisneto, na Armação e no Engenho. Boa furria essa, me deram quatro patacas e me botaram aqui debaixo da páia e inda quase que não fazem o favor de deixar os meninos vir aqui trabalhar no domingo para
fazer as paredes. E, se eu não soubesse fazer minha renda de birro e não tivesse ajutório, que fome passasse, que eu não como só de domingo ni domingo, quando chega o povo aqui. Antigamente, eles musturavam veneno amargoso e borra preta no azeite da lamparina para os pretos não lamber. Porém fome não passei, sempre se pega qualquer coisa nos matos ou no mangue e me acostumei de comer resto, gosto mais de resto do que tudo, verdade sincera. O bissínio, quando chegou, chegou com muito alardeio no meio de uns outros, ele sendo o mais alto. Não teve jeito com ele, marraram logo de corda no primeiro dia, ele roeu as cordas, fugiu para os matos, acho que recebeu o caboco Capiroba — rrreis! —, então, num sá, fez quilombo, num sá? Rastou gente, rastou mulher, fez quilombão. Vieram a gente de armas, caçaram ele. Ele porém não quis ser caçado e, quando viu que ia ser cercado, invadiu aqui, passou horas e horas lutando, só morreu porque os cachorros comeu. Conheci ele, comprado por vinte e cinco mil-réis numa viagem, se achava melhor do que o branco, era doido do juízo, variado, variado. Disse que, se dessem furria a ele, não aceitava furria, ele que ia dar furria ao senhor, maluco da ideia compreto, destabocado mesmo. Nozinho Pirilo Ambrósio vai dar furria quando for senhor? Mais fácil o peixe aramaçã falar de novo com Nossa Senhora. Eu mesmo criei ele, eu mesmo tenho medo dele, e lá também toda gente tem medo dele, que possui o mau esprito. Agora, uma coisa: se hoje tem comida, manhã não vai ter, vai acabar tudo-tudo, he-he-he! Meu pai não tinha mais força na baleeira, botaram ele para carregar barrica de bosta. Barrica pingava bosta pelos lados, vez por outra rebentava, cobria ele de bosta. Porém não foi do peso que ele morreu, que de fato era pesado e ele era velho e todo cortado da luta com a baleia, foi da vergonha. Os negros continua carregando bosta, mas muitos não morre, he-he-he. E é com furria e é sem furria, hi-hi! Bissínio doidjo chamava Darissa, conheci. Caboco Capiroba — rreis! — comia muito landês, era um, era dois, era três, verde, maduro e de vez, he-he-he-he! Vosmecês, quem daí come landês? Mentira sua, tem muito landês aí, nunca que vai acabar a espece deles. Quero mecês muitos dos bonitinhos, feitadinhos, cheirosinhos. Na hora de chorar, chorar. Pelo seguinte, que as lágrimas é como mijo urina, suól ou bosta — é coisas que o corpo tem que se livrar, me compreenderam uma coisa? Mas não esquecer de nada, prochantá, prochantan, prochotá, ui, ai, segura cabeça, hum, prochantan, prochantan, rrreeeeis! Nunsquecer de nada, me compreenda uma coisa, he-he! A mariposa Curuquerê chegou na testa do padre, chega na testa de muita gente, tenção! Cigano falou!” — Cigano falou bonito, gangana? “Falou, porém não se percebe tudo, é fala pior do que de cabocos de fora ou de muito antigamente, quem quiser que comprenda: preches, leches, mongogreches, cacheches e la Santa Quisición, el granofício de la muerte e la santidá de la desgrácia. E disse mais que coidjado com quem ensina a certeza, foi o que ele disse, antes de ter a ordenação para todos que quem falasse com cigano ia para a forca e de ter a corrida que correram com quase eles todos daqui pra fora, esse porém, por muito falar, sendo matado e queimado. Se eles soubesse que eu tinha tanto escutado ele muito bem escutado, eles tinha cortado minha língua, quiçás despejado azeite quente no zuvido, tinha sim, he-he-he. Não cortaram, muntcho bem, porém eu conversei com esse cigano e não fiquei nem mais nem menas hereja, foi mais uma coisa nessa vida que eu aprendi sem aprender mesmo. O cigano disse: ouve lá, mucama,
morra o reis de Espanha, que o inferno é certo e o céu né perto; eu não peço nada, a vida é roubada, quem pede e não toma nunca chega a Roma; vai faltar comida, vai faltar a vida, só não vai faltar é pra quem tomar. E preches, leches, mongogreches, isso levando dias e dias, quem avisa amigo é, se bem não entendo muitas coisas. O destino é o seguinte: não tem jeito. E, se tiver, é porque foi o destino, tem muitos que o destino é se queixar do destino, vão rindo aí mecês. Opa! Quessassim? Minino, veje! Pescou sarnambiquara muita, que está me dizendo? Pescadinha amarela, coisa boa. Huuum Agúia muitona, eta, coisa de Turíbio Cafubá, não me crê? Essa menina, acho que já vou indo. Rrrrreis!” — Vai amuntada, gangana veia? “Sentadinha. Vamo ver se sai umas boas incelenças, vamos ver! Vissantíssima, que canaviá! Chegou carregamento de cana de Angola, muita, muita, de navio, negraiada ia plantar tudo, só vendo. E planta cana, corta cana, mói a cana e se rela todo nas canas, se corta todo, se enfarpa todo, hi-hi! E todo dia chegando mais preto cativo e moça soreana para casar, que o reis mandava sob comando, cada lindo reis que tem, cada qual mais importante. Premeiro morreu Dão João, cravejado de prata e pedraria, comendo queijo de ouro em pó e se refastelando na riqueza e do povo todo sentindo muito dó. Depois desse reis Dão João, se seguiu o reis Zuzé, havendo em toda a nação uma grande alteração, porém cá não havendo nada, ou pra não dizer que nada, havendo cana e mulé soreana. Assim não é que adispois o que vem é a rainha, a qual chamada de Dona Maria trouxe pra todos grande alegria e aqui mandava grandes caravanas pra buscar cana e trazer moça soreana, e cada reis e rainha que vai nachendo é uma grande esperança de quem veve padecendo, he-he-he-he, Caboco Capiroba — rrreis! Come reis, caboquinho, hum, come rainha? Hum, cruz, nojeira, ti-ti-ti, titi-ti!” — Vortou ele aí, gangana, vê-se? “Xente, ques pergunta! Bigorrio, reis, bigorreis, todo reis é bigorrio? Assunte, quer ver, fique esperando aí, assuntando bem: esse outro Dão João de agora, que estava num reino e agora foi para outro, não foi mês passado? Não foi, caje-caje? Então, mês passado ele foi embora dum reino para outro reino e agora eu estou aqui morrendo de desgosto — he-he-hehe! ha-ha-ha! ho-ho-ho! ai-ai! Me deixe, esse menino, estou vendo aqui é os reis, cada reis... Tudo cobertinho de ouro, cobertinho, cobertinho, he-he! Ora, ora, vai-te... Tá certo, tá certo... É o reis que dá! Boa vida ao pobre! Quem me deu foi ele! A páia que me cobre! Ha-ha-ha-ha! Ui!”
— Foi dorzinha aí, ganganinha? “Nadinha. Poquente não, esse daí, agora perdi meu reisado por sua causa. Passou, tenho preguiça de mandar buscar de volta. Tocou as vespras? Eu só quero ir no toque das vespras, como cheguei. Muntcho bem, tudo certo? Tenção no filho da minha neta mais menina, olhe o sangue! Vou, mas fico um pouco em Amoreira! Não deixem matar Nozinho Pirilo Ambrósio. Esqueceu nada não, Nezinha, ói lá! Apois, esqueça nada, hum? Consertou a calha, pagou o peixe de Crispim Ladrão? An-bem, eu apareço. Esqueceu nada não, Nezinha, veje bem! Tão com essa cara, quere saber mais alguma coisa? Que quantas presepadas!” Mas as vésperas começaram a tocar nos sinos da capela e Dadinha se interrompeu como alguém cujo interesse é despertado por um assunto novo. Cruzou os braços muito composta, fechou os olhos e, com a expressão de quem vai assistir a alguma coisa fascinante, morreu como havia escolhido.
Armação do Bom Jesus, 9 de junho de 1827.
A queda de Santa Bona e São Lúcio aconteceu bem no instante em que Antônia Vitória abria a boca para mandar a recontadeira Justina Bojuda interromper a história que os meninos e a negra Honorata estavam escutando. A mucaminha Martina ia subir no escabelo para passar o pano nos santos do oratório, enganchou a chinela, o escabelo virou, ela no tombo derrubou o sagrado casal, que veio ao chão depois de uma cambalhota. Não se quebraram as imagens, mesmo porque a negrinha, ao ver os santos mergulhando de cabeça para o lajedo, ajoujados e contritos como sempre estiveram à frente do oratório, amorteceu-lhes a queda com os braços estendidos em desespero. Apenas partiu-se, numa linha curva e caprichosa, a peanha que unia as imagens, separando os dois pela primeira vez desde o tempo que ninguém lembra. Muito azul, a boquinha redonda e carmezim, São Lúcio virou e ficou de barriga para cima, com o olhar, que antes fitava com perene enlevo a santa companheira e esposa, agora voltado para o lado oposto àquele aonde ela rolara e se aninhava de cara para o encontro da parede com o chão, bem junto ao canapé em que Justina Bojuda estava arrematando o seguinte reconto: Num lugar que ninguém sabe, pela praia ou pelo mato, pela ilha ou pela terra, era uma vez um vigário. Era uma vez a freguesia desse vigário, era uma vez sua igreja, era uma vez o povo que nesse sítio morava, onde havia muitas beatas e muita gente misseira e beguina. O vigário, antes da missa, não podia descansar, porque vinham as beatas se confessar. Depois da missa, não podia descansar, porque vinham as beatas se confessar, e então o padre não fazia outra coisa que cuidar das desobrigas daquele povo carolo. Aí o padre pensou, pensou, pensou e chegou num resultado, que foi fazer por escrito um ror de coisas, ror esse que preparou para ler na missa. Quando chegou a missa, o padre pegou do ror e leu da seguinte maneira: minhas prezadas devotas, povo desta freguesia, já estou ficando velho e cansado e não tenho mais tempo e sustança para tanta confissão todo dia. Por isso que doravante vamos obedecer à seguinte disposição, que eu mesmo pensei muito bem pensado e escrevi muito bem escrito, estando tudo muito bem ajuizado: no domingo, eu confesso as preguiçosas e as que não têm
asseio; na segunda, as que furtam e as que mentem; na terça, as que bebem; na quarta, as que enganam o marido ou pecam ao contubérnio; na quinta, as crocas e as maldizentes; na sexta, as feiticeiras, as mandingueiras e as treiteiras; no sábado, as comilonas e as invejosas. Que quando o vigário terminou de dizer isso, ninguém disse nada na hora, mas toda a gente se olhou assim, e daquele dia em diante não teve mais beata que quisesse confissão naquela freguesia e o vigário descansou à larga com seu bom vinho de missa, pé de pato mangalô três vez. — Sá Justina, caluda, nem mais uma palavra! — trombeteou da porta Antônia Vitória e, assim que se preparou para outra vez discursar com as mãos para cima como tinha feito pela casa toda desde que desembarcaram, a mucaminha gritou, as imagens rodopiaram no espaço, Justina arregalou os olhos e Bona e Lúcio trambolharam pelo chão. — Jesus, Nossa Senhora, grande Santa Rita dos Impossíveis, meu divino padrinho Santo Antônio, ai que desce sobre nós a mais minaz das desgraças! Ai meu santinho São Lúcio, minha santa Santa Bona, que me deram às bodas os meus pais, ai que fizeste, infeliz, aí estão meus santinhos em estilhas, ai, vê como tombaram à distância e se lhes partiu o supedâneo em cem taliscas e em mais de cem te faço eu, negrinha ruim e tavanesa, coisa mais que ordinária, pedaço de mão de finado, urubu, negra albadeira estúpida a fazer tudo às canhas e aos trompaços, ai perdoai-me o Cristo porque houvera eu de ter deixado espanar o pó à edícula uma moleca parva que não serve para lavar um vaso de barro, perdoai-me, sim, se não te retalho em tiras, e não ponhas as mãos neles! Tira os teus cascos de besta daquilo que já arruinaste e sabe-se lá o que mais deitaste a perder com o teu desatino! Ai meu Deus, espero que não chovam desditas sobre esta casa e nossa fazenda, pois, se foi o Inimigo Infernal que animou as mãos desastradas desta negra imprestável, não foram nossas tais mãos! Pois muito bem, pois se queres chorar com muito mais gosto e razão, dou-te motivo. Vai lá dentro à cozinha e explica a tua mãe que o escravo que prometi a Santo Antônio alforriar e pagar-lhe um tanto como se o houvera comprado e não alforriado e dar-lhe terreno, madeira e palha, escravo este que era de ser ela, diz pois a ela que já não penso da mesma forma, que já não pode ser ela, não por falta sua dela, que não as tem a não ser o bodum que por força da raça exala, diz pois a ela que já não é ela que depois das trezenas libertarei, não por falta dela, mas porque a negrinha safadinha que pôs no mundo houve por bem esmigalhar os santos esposos que sempre velaram sobre a felicidade desta casa — diz a ela pois, infeliz, que não é mais ela que liberto por devoção, mas, sim, outra, ou outro, que escolherei. E não te esqueças de dizer também de tua culpa em que assim eu haja de proceder, pois é contra a minha vontade que castigo tua mãe, só que não posso deixar passar em brancas nuvens ato tão sacrílego quanto esse, presságio tão mau quanto o que derramas agora sobre esta casa! E diz lá também que, se não te mando agora mesmo ao azorrague e não te corto em postas como devia fazer, é porque és filha dela e na sua tenção é que faço isso. Vai lá, anda, vai lá contar-lhe tudo, anda, vai, mexe-te, vai e não te esqueças de uma só palavra, negrinha amaldiçoada, pois que logo vou perguntar à tua mãe se disseste a ela tudo conforme te ordenei dizer, vai! E não passes ao pé de mim, que não quero imundar as mãos na tua cara nojosa, ai meu Deus, Santa Catarina, Santa Margarida, Santa Águeda, meu São José Calasans da eterna resignação, valei-me neste transe em que a cabeça me pesa e o desgosto me abate! Vai-te! Matas-me, matas-me, é o que fazes! E me aflige o...
Vai! Vai, antes que te esgane, vai! E tu, negra Honorata, a consentir que essa mulher medonha, que aqui vem ficar a troco de boa comida e ainda os vinténs que toma à economia e às algibeiras dadivosas do senhor barão, para contar-nos histórias sem pé e sem cabeça e para que os pequenos oiçam as imundícies e ofensas que saem de sua boca! Já te disse que não quero que contes tais histórias! Já te disse que não te aproveitasses da indulgência desta casa para encher as orelhas dos pequenos com anedotas de baixa moral e alta vileza! Que coisa de contubérnio é esta de que trata a tal narrativa? Não me digas, hei de meter um ovo quente à boca do que primeiro repetir tal palavra ou esse conto sujo que estavas a tartamudear aos pequenos! Chut! Ai, Senhor dos Desvalidos, sei que havemos de dever-Vos, como pecadores, penitências a Vossa Misericórdia, mas existe tanto padecimento para os que saem da Europa e vêm habitar aqui, em sítio tão bruto, malsão e ingrato, em tantos esforços e trabalhos sem nota ou fama, sofrendo tanta privação e angústia, metidos com gente tão ruda como nunca um cristão pôde conceber, sei bem como padeceram os santos homens católicos entre os mouros, mas, ai de mim, vida tão cheia de avanias não tenho a força dos santos para suportar! Sabias que eras tu, Honorata, a quem eu ia dar a mesma alforria que já estava quase a conceder à negra Constantina, mãe daquela M..., daquela cujo apelido não posso fazer sair de minha boca, sabias que eras tu? Bem sei que és desmiolada e mais tonta que uma mosca e te falta qualquer caráter, mas mesmo assim te perdoava estes maus traços, só não posso perdoar a desobediência! A desobediência! A desobediência! Será que terei de bradar aos céus pela Eternidade que, pela comida que damos, pelo teto que emprestamos, pelas tribulações e vexações que amargamos por conta de tua laia imprestável, por tudo isso só cobro em troco a obediência? A obediência! Não é muito pedi-la a cães e alimárias, mas parece necessitar de compreensão em demasia para a ausência de tino e sentimento dessa raça! Obediência! Obediência que não te passou pela caceça cheia de borra, quando, com a insolência mais intolerável, a bestialidade mais desagradável, deixaste que essa megera parda contasse essa história blasfema, castigando-nos então o céu por meus santinhos partidos, ai meus santinhos, ai que fraqueza me vem, quantos padecimentos poderei ainda sofrer, Santa Luzia, não deixeis que se apague ainda o lume de meus olhos antes que arranje a reparação de tantos pecados que, se não foram de minha feitura, pois bem sabe Deus da vida pia que levo, são de meus cuidados remediar. Ai Santo Antônio de Lisboa, meu santo padrinho, não soubestes perdoar que não vos tenha vindo a todas as trezenas como faço cada ano, mas sabeis que de minha vida não resolvo eu, senão o barão meu senhor marido, que só agora consentiu nesta vinda para cá, assim mesmo à custa de muito implorar, vós o sabeis, pois que a tudo assististes, meu santo padrinho! Pois, negra ingrata, que de Honorata calha bem pouco o apelido, tira da tua cabeça vires a ser libertada, porque a tanto jamais chegará o esquecimento da tua desobediência e do mal que fazes aos pequenos que tanto te querem bem, coitaditos. Minha mãe Santíssima, mater dolorosa, socorrei-me nesta hora transida, dolorosa mãe amantíssima! Não te mexas, não te mexas, negra, fica onde estás, pois não sei se há de tocar-se nos santinhos antes que chegue cá um sacerdote, que será de mim agora, onde está frei Hilário, sinto que desfaleço, ai Deus, não tenho mais forças, ai tanta pena... Quando frei Hilário finalmente chegou, depois de ter sido encontrado cochilando e sonhando com ovenças fartas, um fio de baba escorrendo até onde a barriga lhe encontrava o queixo pendido, um ronco ancho marcando o andamento da dormida — e chegou tão ligeiro
quanto podiam seus passinhos curtos, rechinando as alpercatas no soalho por todos aqueles corredores treliçados, assombrados por nichos, aparadores, tripés de bacia, guarda-pratas e tantas outras coisas —, Antônia Vitória já estava reclinada na camilha almofadada, esticando o rosto para o leque com que Teolina a abanava. O frade passou os olhos miúdos pelo salão, olhou as duas imagens caídas, viu as negras petrificadas à beira do portal da varanda, as crianças sentadas no canapé com as costas espigadas. — Ah, meu bom padre conselheiro e diretor! — suspirou a baronesa, levantando debilmente o tronco para depois tombar de volta no almofadão, os olhos fechados e o peito palpitante. — Deram-lhe um vinagrito a cheirar? — perguntou o padre e, quando lhe disseram que sim e que também lhe haviam posto um grão de sal sob a língua e que já estavam quentinhas as mãos antes tão tremelicosas de frio, fez sinal para que se afastassem, deixassem-no a sós com a baronesa até que alguém as chamasse. — Pronto, pronto, já está, já está, já tudo passou. Antônia Vitória abriu os olhos custosamente. Voltou-se para o frade, agora sentado no escabelo que caíra e que ele pusera junto à camilha. Ah, não sabia o bom frei quanto ela sofria e mais sofria e sofria, não se abrandando nunca a sina tão gravosa que os fados pareciam ter gosto em abater sobre ela? Pois não estivera, ainda agorinha, quase às portas da morte, depois de entrar ali para continuar a trabalheira incessante daquela casa tão cheia de visitas ilustres a requerer almoço fino, ceia finíssima, atenção como a que se espera da nobreza, quando lhe acontecera aquela desgraça? Não lhe bastava que o almoço, saindo atrasado, quase ao meiodia, lhe tivesse dado tanta ânsia, pois que não tocou o senhor cônego na caldeirada, nem pareceu gostar dos vinhos? Não lhe era suficiente que o barão, seu senhor marido, lhe houvesse dito com aspereza e à frente de todos que aquela mal-assada não estava muito diferente da comida dos negros, embora a tivesse devorado quase inteira? Casamento de São João das Vinhas, isto era o que era aquele casamento, embora só ao frade conselheiro, amigo e diretor, pudesse fazer tão terrível confidência, que mal lhe saía da boca abrasada e lhe dava vertigens. Não foram seus paizinhos, não foram seus filhinhos, a quem tratava o barão com tanta indiferença, não fora o bom frade, talvez já não tivesse mais ânimo para seguir vivendo. E agora, agora não podia ele ver ali mesmo, lançados ao chão em posição tão desairosa, os dois santos de cujas bênçãos dependia a paz de casa e casamento? Os dois santinhos estilhaçados? — Mas não estão estilhaçados, partiu-se-lhes somente a peanha e pode-se perfeitamente grudar as duas partes. Manda-se fazer uma gomazinha de farinha do reino com clara de ovo, que fica mais rija que antes de partir-se. — Crê Vossa Reverência? E não crê que desça um castigo sobre a casa? — Creio que os santos ficarão como novos e que não teremos castigo algum. — Benze Vossa Reverência a goma, benze-a? — Benzo-a, benzo-a, não se aflija a senhora baronesa. — Ah, como sou grata a Vossa Reverência! Mas não crê que houve castigo porque aquela recontadeira, perdão pela palavra, aquela recontadeira suja estava a narrar uma história aos pequenos de fazer corar as pedras, além de blasfema, pois que contra um sacerdote?
— Não, castigo não creio, talvez advertência, talvez. — Advertência! Aviso! Para que cessem tais coisas! Para que seja posta à prova a nossa piedade! Portanto, devo castigá-la eu! Diante de tantas afrontas, nada mais providenciei como castigo do que revogar a promessa pela boa saúde de meu paizinho, de alforriar a negra Constantina. — Revogar a promessa? — Não, por Jesus Cristo Crucificado, mil vezes não! Apenas alforrio outra em seu lugar, pois é preciso castigar sua filha, a negrinha espevitada que me fez isto lá aos santos. — Está bem castigada. — Não está? Mas se castigasse diretamente a negrinha por me fazer tanta revolta e a negra Honorata e também esta moura torta medonha que conta histórias? — A Bojuda? — Sim, que nome tremendo, bem que o merece. — Mas é liberta, não é? — Pois que venham cá todas as milícias do Império, a gente de todas as armas, todos os vedores e ouvidores da Coroa, que à baronesa de Pirapuama não haverão de tirar seja uma parda velha, seja o que for! — Lá isto não haverão. — Pois então não posso eu castigá-la como bem me aprouver? Não me ofendeu ela, não ofendeu tão monstruosamente um homem de Deus, não abusou da inocência dos pequenos e da estupidez de Honorata, em troca da comida que busca à cozinha todo o tempo e dos vinténs que nunca lhe regateei? — A bem dizer, talvez não encontre apoio na doutrina. — Não encontro apoio, Senhor meu? Quem me desaprova? — Hum... São Jerônimo, São Jerônimo. Sum cuique tribuere... É... Sum cuique tribuere, ibis, redibis, qui... quod. — Dizia isto o santo doutor, em tão precioso latim, que minhas poucas luzes não percebem? E se ajustam esses preceitos a tais casos? — Se bem me recordo. — Ah, sempre recorda bem, sacerdote abençoado, não é dos homens a sabedoria de Vossa Reverência e ouvindo-a todos os caminhos me parecem claros e todas as coisas certas. Que indica a boa doutrina nestes casos? — Uma penitência. Uma penitência que lhes ensinasse o mal cometido e mostrasse arrependimento aos olhos do Senhor. — A isto aconselha São Jerônimo? — E Santo Anselmo. Santo Anselmo... — Santo Anselmo! Pois lhes darei penitência! Ah, meu bom sacerdote, enviado da Providência... Darei penitência aos pequenos também? — Talvez não Felicidade Maria, que está mais pequetita, mal sabe repetir meia oração. — Os pequenos, isto veremos, pelo menos às raparigas não lhes ficariam mal uns dois ou três rosários de joelhos e um pouco de abstinência. É pela sua própria virtude, jamais outra
vez as deixarei aos cuidados de Honorata. Honorata! E todos, enfim, menos Constantina, de quem já tirei a alforria e não quero que pague pelos pecados da filha. Já me vem alento, por que não penso eu mesmo as coisas que, ditas por Vossa Reverência, parecem tão fáceis? Vossa Reverência benzerá mesmo a cola a meus santinhos? Ajudará a dispor as penitências? Que mortificações se fazem os frades penitentes?
Urinando sonorosamente num penico de porcelana, Perilo Ambrósio sentiu grande prazer. Só não fechou os olhos para ouvir-se esvaziando porque queria também apreciar a espuma, que começava a refletir a luz da lamparina em cintilações brancas e douradas. E lá embaixo, o pescoço virado para cima em posição forçada, Antônia Vitória não conseguia, apesar de estorcer-se para todos os lados, evitar que os jatos implacáveis daquela mijada sem fim lhe acertassem o rosto. E não só em Antônia Vitória mijava ele, mijava em tudo, sentia que podia mijar em tudo o que quisesse, podia fazer qualquer coisa que quisesse. O enorme penico, com suas bordas de abas caprichosamente recurvadas como as pétalas de uma açucena gigante, suas orladuras filigranadas e aparência quase alada, suas cenas ribeirinhas lhe cobrindo os lados e o fundo em traços sutis e cores evocativas, vibrou como um sol em que chovesse, e Perilo Ambrósio não queria mais terminar de mijar. Mas terminou e passou muito tempo com os braços derribados ao longo do corpo, o queixo encostado no peito, a espinha derreada, espremendo mais uma gota, mais outra gota, uma última gota, uma gota que se apingenta como uma estalactite e hesita brevemente antes de cair. Assim como estava, exposto e pingando, caminhou até a janela. Não se viam os sapos, não se viam nem mesmo o mar e as árvores, tudo estando encoberto por uma caligem espessa. Muitas vezes tivera medo de escuridões iguais a essa, mas agora não tinha medo algum. Encostando a barriga no poial da janela, baixou ambas as mãos para apalpar-se e logo sentiu que tudo embaixo se avolumava. Agora não ficava tão duro como antes, quando somente pensar em alguns dos negros e negras da casa o fazia querer explodir, retesado e doendo como se fosse destacar-se do corpo. Às vezes, nem mesmo ficava completamente duro, mas se orgulhou da massa grossa e rombuda em que passava a mão com delicadeza. Sopesou os ovos, esboçou um meio sorriso e, fazendo uma expressão que sabia que jamais faria diante de qualquer pessoa, nem mesmo diante do espelho, começou a masturbar-se à janela, mal podendo conter a vontade de gritar e urrar, pois que se masturbava por tudo aquilo que era infinitamente seu, os negros, as negras, as outras pessoas, o mundo, o navio a vapor, as árvores, a escuridão, os animais e o próprio chão da fazenda. Sim, podia sair por ali nu como estava, a glande como a cabeça de um aríete irresistível, e podia fazer com que todos a olhassem e a reverenciassem e ansiassem pela mercê de poder tocá-la e beijá-la. Imaginou-se suavemente prepotente, chamando ao colo e às virilhas as cabeças dos que o cercavam, com isso distribuindo bênçãos e felicidade. E finalmente pegando a negrinha Vevé e, sem dizer uma palavra, atirá-la à cama, abrir-lhe as pernas, deixar bem claro que não queria que se mexesse e, passando cuspe por aquela cabeça de carne inchada e embrutecida, deflorá-la de um só golpe, aguardando um estremeção de dor para impedir seus movimentos com um abraço paralisante, sentir qualquer estalo de pele ou cartilagem se rompendo, pressentir que ela era rasa ou estreita e, empurrando-lhe os joelhos para cima, enfiar-lhe tudo com um golpe rude que quase a lançasse contra a cabeceira, confirmando esse golpe, depois
de penetrá-la até encostar os ossos dela em suas banhas, com mais estocadas curtas, como quem trespassa, como quem empala, como quem gostaria de que a mulher fosse inteiramente atravessada e morresse com as vísceras destroçadas, morresse bem no instante em que, quase sem precisar fazer mais um gesto sequer, gozasse dentro dela, senhor completo, senhor completo, levantando-se e limpando sangue e gosma na camisola da negrinha. Ainda não tinha acontecido, mas ia acontecer, já havia ordenado que dispusessem tudo para ele ter a negrinha Vevé, só não permitiu que dissessem a ela, porque sempre havia o perigo de que Antônia Vitória viesse a saber e, principalmente, porque não podia dispensar o prazer de aparecer de repente diante da negrinha e começar a tirar a roupa sem falar nada, desfrutando do medo ou espanto no rosto dela, ao ver brotarem das dobras dos calções os instrumentos de sua submissão. Ela quase correra antes, quando pusera nele seus olhos de uma cor estranhamente clara para uma negra, arregalados e fugidios. Chamara o feitor Almério, perguntara quem era. Neta de Dadinha. Sim, muito bem, quero fodê-la, é donzela? É donzela, vai pedir permissão para casar com Custódio Arpoador, estão esperando o dia de Santo Antônio para falar com a baronesa. Melhor, melhor assim, quero mais ainda fodê-la depois de saber disto. Sabes como fazer, não sabes, não me aprontes asnices. Quer que vá buscar a negrinha hoje, agora? Não, falo-te depois. Falo-te depois, falo-te depois, repetiu Perilo Ambrósio de olhos fechados e pincelando a parede. Somente agora, as nuvens da noite cerrada deixavam aparecer algumas estrelas. Lá do lado norte do céu, por trás da famosa constelação por uns chamada de Cisne e por outros vista como uma congregação de reis, a almazinha do alferes lembrou de novo a luz de sua terra e de novo estremeceu de orgulho. E, como as alminhas desencarnadas não vivem no tempo, tudo para elas podendo ser presente, passado e futuro, esteve no mesmo instante sobre as ondinas que nessa hora conduziam os trabalhos noturnos da maré, farfalhando pela praia da Armação do Bom Jesus. Massas noturnas e de formas diversas das que teriam sob a claridade do sol, as casas e as árvores exibiam só um pequeno olho brilhante, na janela onde Perilo Ambrósio começava a borrifar esperma na parede, em arrancos que lhe faziam dobrar os joelhos a intervalos curtos. A almazinha percebeu aquilo e tudo mais da noite com o já costumeiro amor e, sem saber por quê, teve certeza de que seria ela quem um dia animaria a criatura de Perilo Ambrósio, barão de Pirapuama, herói da Independência, construtor da nação mais bela e forte do mundo, fonte de benquerença, fartura e paz. Pois era o seu destino de glória, iniciado quando habitara o corpo valente do alferes Brandão Galvão, abatido na defesa da terra e da liberdade, na brisa sem par da Ponta das Baleias. E comemorou como fazem as almazinhas nessas epifanias, riscando o ar de traços e centelhas pelas beiras do Zodíaco, sumindo à distância entre uma estrela e outra e voltando para brilhar tão ligeiro que ninguém vê, ora na testa da constelação do cavalo de asas, ora serpenteando entre as muitas coroas celestiais que aqui adornam o firmamento, a cada tempo do ano recompondo seus arranjos faiscantes e dando razão para crer que tudo muda porém permanece, tudo permanecendo porém mudando, como é necessário para a vida. Regozijou-se muito a almazinha, virada numa fagulha feliz e alheia a tudo que não fosse aquela alegria, e assim, bom para ela, não viu que, curvado e sem fôlego junto à janela, Perilo Ambrósio mergulhava a cabeça na escuridão de fora e, sem nada que lhe ocupasse a mente, tinha no rosto tanta maldade indiferente, tanta crueza e tanta ausência de bom sentimento que sua baba, se caísse, poderia matar as plantas
rasteiras e sua vontade era apenas a vontade de que tudo existisse para si, a vontade que não se pode bem distinguir da morte. Ninguém viu essa cara tão má, nem podia ver, ninguém pensou nela, nem podia pensar — e Perilo Ambrósio limpou o suor nas fraldas da camisa, lembrando com satisfação que tampouco gostava de ninguém.
4
Engenho do Jaburu, 26 de fevereiro de 1809.
Quando Vevé vinha nascendo, Roxinha pensou que estava suando demais no meio das pernas. Era natural que suasse, porque o calor que saía do fogão onde ela enfiava achas de lenha e equilibrava gamelões de barro convertia tudo numa fornalha. E também não soprava nem um arzinho pelas copas das caramboleiras e dos cajueiros, nem mesmo os cabelinhos da cana moça se moviam e, nos matos, tudo quieto, soando só um tiziu de quando em vez, uma fogopagou, um zumbido de asas de besouros, uns estalos de gravetos, capulhos pipocando sementes, a sibilância surda própria do silêncio nessas horas. E, debaixo dessa manta pegajosa e morna que tudo encapava, ela, tão gorda, pejada e tendo de parar a cada instante para respirar mais fundo, já esperava que lhe corressem rios de suor pelo corpo, mas assim mesmo passou a mão entre as coxas, para ver o que estava acontecendo. Sabia que o menino devia nascer a qualquer momento, mas não podia deixar de fazer serviço de cozinha mesmo no domingo e, além disso, havendo já parido seis e tido três abortos, todos os seis vendidos logo depois de desmamados e os fetos jogados na maré junto com o lixo, se aborrecia um pouco por ter de parir, ficava impaciente em pensar que haveria de novo um menino pendurado nos peitos, um menino que, como sempre, não seria dela. Cheirou a mão, sentiu o fedor das águas do parto, baixou outra vez a mão e tocou na cabeça de Vevé, que começava a aflorar como se alguém a estivesse empurrando lá de dentro. Sem dar por isso, não soltou a acha de lenha que tinha na mão esquerda, tentou sair correndo e segurando a cabeça da menina, mas conseguiu somente dar alguns passos com as pernas esquadradas e caiu sentada logo depois da soleira, a filha lhe escorrendo pelos baixios. Encostou-se na parede, dobrou um joelho para cima e quase não precisou puxar a menina, porque ela vinha para fora coleando e já queria começar a chorar. Dadinha chegou logo depois e ainda ajudou as outras a amarrar o umbigo e enterrar as secundinas conforme todos os preceitos e disse que estava muitíssimo satisfeita com tudo aquilo. Em primeiro lugar, a menina tinha nascido num domingo como ela, era uma coisa ótima. Em segundo lugar, apresentava um sinal igual ao do pai, era o primeiro dos filhos de seu filho Turíbio que nascera com aquele sinal. E num domingo, bom, muito bom, muito bom. A mancha na testa, um pouco mais clara do que a pele, já se podia ver bem na criança, assim mais ou menos em riba do olho direito, quase como no pai. Sinal esse, contou Dadinha mais uma vez, que vinha da caboca Vu e que era um sinal que nela muitas vezes se acendia, quando ela lutava. Mas nunca se acendeu em Turíbio Cafubá, ih-ih-ih, riu-se ela. Cuspiu um pouco do tabaco em pó com que estava areando os dentes, escrutinou a cusparada com atenção. Mas sim, mas sim, continuou misteriosamente, essa minha neta vai dar coisa, hum-hum. Com esse sinal: quer dizer, tudo continua e é por ela que vai continuar. Quando lhe perguntaram se podiam ter isto na conta de verdade escrita, revelada pelas entidades ou desenhada nas conchas e contas, respondeu que mais bem era uma coisa que ela queria, não bem uma coisa
que ela sabia. Mas acabava dando no mesmo, estava com preguiça de explicar. — O nome que vão botar nela eu não sei, quando é mulher eles não escolhem muito, nem marcam a ferro, nem nada — disse Dadinha pondo as mãos nos quartos, como anunciava sempre seus discursos. — É até uma coisa para dizer, porém sabendo eu que é como as outras, que entra por um ouvido, sai pelo outro, porém eu digo: quando disserem “Nhô Felisberto Góes Farinha é senhor muito bondoso”, vocês digam: “é, é”. E quando disserem: “Nhá Ambrosina Góes Farinha é senhora muito bondosa”, vocês digam “é, é”. Agora, sem dizer nada, se lembrem que eles são bondosos porque não ferram à brasa as negras, só ferram os negros. Ha-ha! Acho muita graça em mecês, muita graça, acho muita graça em quase tudo. Bom, certo. Bom, não sei o nome branco dela, o daqui eu já sei qual é. Vou dizer: é Daê. Daê. Também pode ser Naê. E vai se criar, se vê, se vê bem. Isto mesmo contaram a Turíbio Cafubá, que começou a dançar assim que ouviu a notícia, antes até de pular para fora da canoa onde trazia um cesto de caranhas, pampos, sambulhos e peixe miúdo, fisgados e tarrafeados desde as três horas da manhã. — Daê-ê! — gritou, saudando a filha como se ela fosse as nuvens que passavam por cima da praia. — E tem a marca na testa, apois? Desembarcou com o balaio equilibrado na cabeça, fez uns passos dentro da água que lhe chegava aos joelhos. Pariu ao vento, foi? Tá muito certo! Homem de boa fortuna, não? Era para ser capado, permaneceu inteiro, sempre quase-quase pela última horinha. Era para ser vendido, terminou ficando no engenho da família cuja marca lhe ferraram no peito, gente bondosa e de caridade, que tratava bem o negro bom e castigava com leveza. Era para não poder mais com mulher, sessenta anos com quase toda a certeza, mas enfiava um por ano somente em Roxinha, que tinha vinte e dois e não aguentava com ele, e mais uns quinze tinha enfiado em outras, deve estar tudo criado por aí, hum-hum, que é que me diz, hem? Homem de boa fortuna, sim senhor, ali estava peixe de primeira, era todo seu, o senhor não deixava? Nhô não deixava, quando não tinha trabalho na caieira ou outro serviço, Nhô não deixava que ele fosse pescar e nunca que queria o peixe? Ha-ha-ha! Aqui é Turíbio Cafubá, meu filho, assim chamado porque de preto quase que fica branco do pó e da queima do cal, quase fica cego, quase fica todo cortado por dentro, mas não ficou, homem de boa fortuna! E Daê não nasceu no domingo, para ele poder dançar o dia todo, com o espírito que veio da terra do Daomé, ou senão do Maomé? Daê-Naê-ê! O peixe, só levava uns para fazer um caldo de resguardo para Roxinha, para fazer frito, fazer escaldado com pirão de copioba e quiabo, maxixe, abóbora e bananinha-da-terra — sim senhor! —, fazer de comer para todos! Que vão pegando logo o peixe, que vão tomando, que vão levando! Na senzala, Turíbio entrou depois de muitos meneios e idas e vindas, risadas debochadas, mesuras aos presentes, algumas cantigas cujas palavras não mais entendia, mas repetia com a expressão copiada dos velhos que as ensinaram. Cafubá-ê! Então? Como é, então? Quer dizer que é isso, hem, que me diz mecezinho? Viu tu, menina, agora se apreste aí, que também faço uma em você, é pam-pam-pam! Mais mulher aí querendo cria? Olerê, deixe comigo! Aqui é assim, sem trastejo, sem errada, sem resvalada — zup! —, tome-lhe filho! Dadinha, sentada num tamborete com as pernas escarrapachadas e sacudindo o corpo de riso, disse que deviam ter dado miolo de boto a ele em pequeno para ter ficado maluco assim, já velho e ainda sem nenhum juízo. Mas ele não ligou, deu dois saltos e caiu com um
joelho no chão diante da menina, que estava quieta e enrolada em cima de uma esteira. — Naê-ê! — gritou. — Rainhazinha de Aiocá! E o sinal! — E dizendo bobagem — reclamou Dadinha. Mas ele de novo não ligou e, como se houvesse muito mais música ali do que o som de seus calcanhares batendo no chão, das palmas que repenicavam em mil compassos e do que lhe saía da boca em estalidos de língua e beiços e melodias de garganta assemelhadas a solos graves de flauta, esticou os músculos, agora retinindo de tensão e suor, e dançou. Muitos ali dançavam e eram admirados quando, nas festas em que podiam fazer música, reviravam os olhos e saltavam loucamente pelo barro batido, flutuavam no ar, faziam com que seus corpos fossem muitas coisas ao mesmo tempo, traziam fogo aos corações dos outros e, nessas horas, eram divindades. Mas nunca se viu tal dança como a de Turíbio Cafubá celebrando sua filha, pois ele ficou transparente e logo muito preto e logo estava em toda parte, às vezes parando e vibrando como uma asa de cigarra, às vezes se dissolvendo em tantas formas que as pessoas não sabiam em que acreditar, e então todos os ritmos que brotavam de sua figura eram ritmos de alguma coisa acontecendo dentro de cada um, sangue pulsando, dedos se abrindo, fôlegos tomados, tudo o que pode ocorrer no corpo, tudo a que o espírito se entrega. Ninguém soube quanto tempo durou a dança de Turíbio, nem mesmo ele, cujo rosto agora singrava muito à frente do corpo da mesma forma que a carranca de uma canoa de guerra, enquanto, curvado e empunhando a araçanga, o porrete com que matava os peixes grandes na borda da embarcação, ele vinha com uma perna independente da outra, cada qual marcando o próprio ritmo e andando da própria maneira, na grande dança de combate de sua nação. Os olhos esbugalhados, o queixo esticado, parou um instante, mas no mesmo instante todos ouviram os tambores desabalados da orquestra de batalha e ele, ninguém jamais podendo esquecer aquela visão, dançou em homenagem à filha como os guerreiros mais orgulhosos de que se tinha notícia, esse orgulho espelhado em todo gesto, toda martelada de pé, todo olhar levantado, todo ombro erguido, todo passo à frente, todo agitar de braços e mãos, tudo com que se pode exibir altivez. — Aaaah! — gritou outra vez, parando os tambores invisíveis diante da menina, a boca muito aberta, o braço direito levantado e encompridado pela araçanga. — Ara umbó! Ará umbó, vejam quem chegou! Viva! Então, minha menina de pesca, quando vais pescar com o pai? Dadinha perdeu quase todo o ar de riso e disse a ele que estava bem, que dançasse e festejasse, mas que não ficasse tendo fantasias, que fantasias a nada levavam. Dos filhos dele, mais de vinte, mais de sabe-se lá quantos, nunca, assim ou assado, tinha ficado um por ali. Mesmo ficando, não era dele, era do senhor, largasse ele de não dizer coisa com coisa e fosse levar aqueles peixes para alguém tratar lá dentro e deixasse a menina e Roxinha descansar. Ele, entretanto, não se conformou e, como se fosse de noite e o tempo não existisse, contou uma história de trancoso. Era uma vez, disse, um negro cativo fumbambento de cal que fez para mais de vinte filhos, porém não conhecendo nenhum, que todos levaram embora logo cedo. Um belo domingo, está esse negro cativo fumbambento de cal puxando suas linhas, rolando sua tarrafa, ajuntando suas tralhas de pesca, quando que chegam na praia e falam que nasceu essa filha de estrela na testa, com um nome que Dadinha vó-gangana logo descobriu ser
Daê, podendo também ser Naê. Esse negro fumbambento chega assim e, quando que olha nos ares, está o grande espírito das danças que veio da terra do Daomé, podendo ser Maomé, espírito esse que garra esse negro fumbambento e, entre uma dançada e outra, lhe cochicha a seguinte outra história: ah, não sabe mecê, negro velho fumbambento de cal e pescador de peixe, essa menina você assunte bem, não sabe? Muito bem, a menina nasce, aprende a andar e todos os dias vai com o pai para o trabalho na caieira e aprende todos os trabalhos da caieira. E, como o senhor é muito bom, também vai mais o pai pescar, e o pai, com muita paciência de pai, ensina a ela a paciência do pescador em todos os seus segredos, que são muitos e um vai abrindo para outro, que vai abrindo para outro, que vai abrindo para outro, de maneira que o pescador nunca acaba de aprender, mas aprende mais do que quem não pesca. Muitas coisas sabe quem pesca, coisas que não se pode contar, só pescando. Muito bem, esse pai negro fumbambento dá a mão à filha e conversam longas prosas, em que o pai se mostra mais sabido e mais qualquer coisa boa que os outros, sendo isto necessário para todo pai e muito mais para o pai que é escravo e, portanto, precisa de todo pedaço de orgulho que possa catar. O que esperar da vida esse pai não ensina, porque não sabe, porém ensina todos os cipós de tecer redes e cestas, todas as dentadas especiais dos muitos peixes do mar, todas as marcações da água e as qualidades dos ventos, todas as coisas que aprendeu sozinho, palestrando com a maré. No dia de São Francisco Xavier, esse pai negro velho fumbambento vai pedir permissão para ir na pesca do xaréu. O mestre do mar lhe responde: pois que sim, pois que então fiquem ele e filha junto com as mutucas da rede, que são os pretos que ajudam quando a rede arriba à praia com seus peixes puladores, mutucas porque de longe aparentam moscas no pescado. Mas a menina não se importa, nem o pai velho, de ser mutuca da rede, mas tanto aprende essa pesca que de mutuca vai a atadora, de atadora vai a mestre de terra, ou senão moça embarcada. E então esse pai mais essa filha, porque sempre existe um outro tempo dentro do tempo, vão viver felizes para sempre, é o que estou lhe dizendo. Ali estão, de mãos dadas, na beira do mar, o pai só falando, falando, falando e ela, como todas as filhas, gostando do pai assim mesmo, não admitindo que se diga mal do pai e tendo paciência com o pai e amolecendo a comidinha para quando ele ficar sem dentes, segurando a mão para quando ficar sem pernas de andar, descrevendo as coisas quando ficar sem vistas de ver, prestando atenção quando ninguém mais prestar, gostando do pai assim mesmo, assim mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, quem não apreciou a história é porque não tem uma filha, estrelada ou sem estrela. Dadinha nunca chorava e por essa razão não chorou, mas lhe veio um aperto no meio dos peitos. Talvez sentisse uma pequena felicidade, porque o pai via na menina um futuro e ela também via, embora diferentes e embora não pudesse haver dois futuros e portanto um deles estava errado. Olhou o filho, que parecia enfeitado de miçangas pelas gotas de suor, teve pena dele e teve orgulho, achou que era bonito em sua insensatez e seu delírio de línguas e santos misturados, conseguiu somente suspirar. E isso até porque já sabia, mas não tinha falado a ninguém por não querer ser uma velha agourenta, que logo viriam dois ou três agregados a mando de Nhô Felisberto, buscar Turíbio para chicotear e deixar dormir no tronco em pé, porque ele tinha dado o peixe antes de falar com Nhá ou com Nhô. Não era por nada, era para não permitir o mau exemplo, isso acontecia sempre, tão certo quanto o amanhecer dos dias.
Como realmente se deu logo depois e Turíbio só gemeu, na hora em que lhe baixaram o bacalhau, para evitar que chibateassem mais, estava um pouco cansado. Queria dormir logo, já sabia como fazer para não cansar demais, com os pulsos presos acima da cabeça e sem poder amolecer as pernas durante o sono para não acordar quase com as mãos arrancadas. Castigo leve, não lhe tomaram o privilégio de pescar, são bons cristãos, boas pessoas que sabem do que ninguém mais sabe ou imagina, era só porque ele devia ter pedido consentimento para distribuir o peixe, pois saber que ele ia ser dado não dispensava o pedido, essas coisas não se pode deixar passar, se fosse assim onde se ia parar? De fato, pensou Turíbio, percebendo que lhe corria algum sangue pelas costas cortadas e sacudindo a cabeça molhada depois que lhe atiraram dois baldes de água do mar, é isso mesmo. E ficou até satisfeito, enquanto se preparava para dormir do jeito que tinha aprendido com a prática, porque achou que havia previsto bem tudo o que ia acontecer e adormeceu sonhando com esses acontecimentos. Dadinha, de olhos abertos no escuro, pensou que certamente não veria nada do que ia suceder com a menina, pois que morreria aos cem anos, sempre soubera. Mas aquela filha mais nova de seu filho mais novo e temporão tinha um destino forte, isto se podendo pressentir na treva pesada da senzala, pertinho do barracão onde Turíbio Cafubá, amarrado e com as costas ardendo, deu um sorriso e, mesmo dormindo, concordou consigo que era um homem de boa fortuna.
Armação do Bom Jesus, 11 de junho de 1827.
— Timonê! Amleto Ferreira teve um sobressalto. Sabia que devia haver gente começando a guarnecer as chalupas àquela hora, pois ia amanhecer e existia quem, mesmo assim quase sem luz, já pudesse distinguir ao longe os tufos de nevoeiro feitos pelos esguichos quentes das baleias, pouco antes de o sol se alastrar sobre as águas da grande baía. Era hora de trabalhar, as guarnições se aprestavam para sair ao largo. Mas se assustou de qualquer forma, talvez porque o vento tivesse mudado a direção de repente, ou talvez ele estivesse distraído, apequenado entre as embarcações esteadas em terra adernando nas estroncas, as ripas expostas feito costelas de bichos semidevorados, as cracas dos cascos uma massa esbranquiçada salpicada de pupilas, os espeques armas fincadas na areia, o vento esgueirado pelos rombos do madeirame um arauto de fantasmas. — Cafuletê! Pelo meio das traves descarnadas da lancha Nossa Senhora da Penha, outrora gloriosa e engalanada nas procissões marítimas e agora somente um esqueleto povoado por baratinhas-d’água e aratus, viu na curva da praia a silhueta do mestre de terra arrebanhando a guarnição. O cafuleteiro, um negro muito magro que corria como se tivesse dificuldade em levantar os pés, saiu dos matos pela trilha dos cajueiros, carregando dois panelões de ferro e uma braçada de 1enha. Pôs tudo no chão ao chegar junto do mestre, enfiou o molho de lenha numa das panelas e se retesou quase em posição de sentido. Dez ou doze figuras, os seis
moços de embarcação com seus gorros de serapilheira azul, o timoneiro, o moço das armas, o mergulhador, o cafuleteiro e o mestre de terra, parado como uma estátua. — Balê balê balê ajô balê! — pareceu dizer o mestre ao timoneiro, levantando o braço. — Poadô! Alpuadô! O timoneiro correu para o telheiro de ver o peixe, sumiu na escuridão lá de dentro e voltou acompanhado de mais dois negros, um homem e uma mulher. Pelo chapéu de palha de abas arriadas e pela estatura, Amleto reconheceu o negro Custódio Arpoador, mas não reconheceu a negra. O mestre de terra fez mais um aceno, falou outras coisas na língua dos pretos. Amleto sentiu uma irritação repentina. — Ora, diabo! — resmungou, dando o primeiro passo para atravessar o bojo devassado da Nossa Senhora da Penha, em vez de rodeá-lo como sempre fazia. — Eu já disse, eu não já disse? Eu já disse! Essa negralhada nunca ouve o bastante, nunca ouve o bastante! Teve gosto em debandar as baratinhas, os gorés, os grauçás e os outros bichinhos que à sua passagem transformaram a madeira travejada e defunta numa coisa enxameadamente viva, entrando e saindo de buracos e locas e dando a tudo uma nova consistência a cada instante. Estava ali às quatro da manhã somente por precaução, porque queria fazer uma última visita a todos os pontos a que levariam os convidados, pois seria ele quem, a um gesto imperioso e enfastiado do barão, teria de explicar todo o funcionamento da Armação, do Engenho, das plantações e de tudo mais de que quisesse informar-se o cônego visitador ou qualquer dos outros hóspedes. Ensaiara pequenos ditos e observações e esperava rememorar com a facilidade habitual coisas aprendidas nos livros de boa Gramática e Retórica, nos cartapácios bolorentos que se obrigara, tantas e tantas noites a fio, a ler com a testa perolada de suor e a mente tresvariada, nas conversas e discursos a que prestara atenção tão esforçada, os brocardos latinos vindos depois de capitulares repolhudas, decorados em imitação da pronúncia do cura de Santo Antônio Além do Carmo. Faria uns torneios hábeis, usaria boas palavras, daquelas que coletava com avidez para escrever num livrinho de notas e passar o dia repetindo em voz alta. Nada mais era esta gleba, senhor monsenhor, que uma arroteia agreste e inculta, antes que nela se assinalara o arrojo do senhor barão de Pirapuama, cum dilectione hominum et odio vitiorum, nas palavras inspiradas daquele que terá sido quiçá o mais augusto entre os Santos Doutores Latinos. Ora, pois, à jusante deste córrego... E agora, não compreendia bem por quê, no momento em que imaginava sentenças floridas e judiciosas que bem demonstrariam sua capacidade, apagando o desastre acontecido na viagem e justificando sua condição social antes já quase indiscutível, a fala daqueles negros baleeiros, o som daquelas palavras que mais pareciam ruídos dos matos e dos bichos, o jeito desempenado do arpoador, os movimentos bailarinos dos outros pretos, tudo isso fazia com que ele, abrindo à sua frente um leque derramado de caranguejinhos, sentisse o rosto frio, o coração batendo e a garganta estreitada de raiva, enquanto pisava forte a areia mole em direção ao grupo. Então que era isso, que estava acontecendo aqui? O mestre, que como todos os outros tinha parado de falar assim que a presença de Amleto foi sentida, fez uma expressão perplexa. Providenciavam o embarque, estavam guarnecendo a chalupa, era a última a sair, as outras já haviam zarpado — sim, que estava
acontecendo? — Não admito! — gritou Amleto. — Não admito! Tinha as veias do pescoço inchadas, falava levantando-se nas pontas dos pés e baixando outra vez a cada grito, sacudia um dedo em riste apontado para os pretos. O cafuleteiro, nariz muito aberto, olhos papocados e dentes falhados arremetidos para a frente, grugulejou igual a um peru, mudou a perna de apoio com um requebro exagerado, revirou os olhos e fungou ruidosamente. Amleto correu na direção dele, parou quase dançando e, embora tivesse de virar o pescoço para cima por causa da altura do preto, cravou os olhos nele com autoridade. O preto o fitou algumas vezes, desviando o rosto e em seguida voltando a olhar para ele, fez uma cara de choro e, quando parecia que ia desmanchar-se em pranto por todas as pregas da cara, grugulejou de novo, exibiu e recolheu sonoramente a língua e se perfilou. — Hem? Hem? — gritou Amleto para o mestre. — O que é isso? Hem? — Ele é variado da ideia — explicou o mestre, e o cafuleteiro sorriu abanando a cabeça. — Não sabe que posso mandá-lo à chibata por se comportar pior do que um animal? — Ele se chibateia ele mesmo. Ele gosta. O cafuleteiro ouviu isso como uma deixa, ficou num pé só, curvou-se feito um pernalta para a panela onde guardara a lenha, apanhou uma acha fina e, dando uns ui-uis chupados e terminados em assovios, começou a bater em si mesmo, a princípio caoticamente, depois num ritmo sincopado, que completava com pulinhos. — Para! — gritou Amleto, mas o cafuleteiro, as íris parecendo apenas pontinhos pretos no branco dos olhos saltados, sorriu cerimoniosamente, fez uma curvatura funda varrendo o chão com as pontas dos dedos e bateu a vara nas costas com tanta força que, quando trouxe o braço de volta, um chuvisco de sangue fez um arco no ar, algumas gotinhas caíram no pince-nez que Amleto segurava trêmulo à frente do rosto. — Para, para! — Ele não entende direito a língua dos brancos — explicou o mestre, enquanto o cafuleteiro, numa dança de longas pausas, se fustigava por todo aquele pedaço de praia, dando uis e ais e repartindo as bordoadas com um companheiro invisível. — Quantas vezes tem-se que dizer para usar a língua cristã, nunca essa palra de bichos que não se percebe e não se pode permitir? — Sim, mas ele não entende. — Ele não nasceu aqui? — Nasceu, nasceu. Mas quase não entende a fala, não entende nada, é variado. O cafuleteiro parou de pular e de se vergastar tão subitamente quanto tinha começado, ficou em pé com os braços amolecidos e, sem que mais nada em seu corpo demonstrasse o que estava acontecendo, explodiu em soluços e choro, interrompidos por sorrisos breves e pelas lambidas com que recebia as lágrimas que lhe chegavam à boca. E, apesar de imóvel, não deixou de fitar obstinadamente o vulto pequeno de Amleto para onde quer que ele fosse. — Então? Ele parou! — disse Amleto. — Então? — Não foi porque vossemecê mandou. Ele é variado, ele... — começou a explicar outra vez o mestre, mas o cafuleteiro emitiu novo glu-glu, ainda mais alto do que os primeiros. — Ele pensa que é peru? — Ninguém sabe, ele não diz. Ele...
— Não quero mais saber. Diz-lhe que pare com isso. Como é que se leva um tarouco destes num serviço de responsabilidade? — Ele é bom cafuleteiro, ajuda em todo serviço, faz boa comida. E, se não for cafuleteiro, ele não faz mais nada, não tem quem obrigue, ele só faz cafuletar. O preto agora o olhava como se o estivesse vendo pela primeira vez, mudando volta e meia de postura no jeito de quem avalia alguma coisa, fechando um olho, inclinando a cabeça, estalando a língua. — Bem, que está esperando? Não já te disse que o fizesse parar? Anda lá com teu serviço, já está amanhecendo, isto vai muito atrasado! O mestre hesitou. Não havia o doutor chegado ali esbaforido e tremendo de raiva, quando o ouvira falar língua de preto? Então? O cafuleteiro só entendia língua de preto, não existia outro meio de conversar com ele. Amleto, mãos nas ilhargas com os cotovelos para trás, não sabia que aparência assumir, terminou rodopiando e fazendo um gesto de cabeça. — Muito bem, fale com ele nessa língua de animais. Andem, aprestem-se, este serviço está muito mal, muito mal, assim vai mal! O mestre cantou as sílabas estranhas que faziam Amleto querer tapar os ouvidos e quase gritar para não escutá-las, o negro imediatamente reuniu seus panelões, sua lenha e seus apetrechos e correu para o molhe, onde a chalupa atracada afrouxava e retesava os cabos no balanço da maré. Os outros permaneceram como estavam, atentos a Amleto. — Anda, anda! Mas que bando de moleirões, que gente parva e preguiçosa, anda! Seguiu os negros, que agora se apinhavam no molhe antes de pularem para a chalupa, mediu o passo para não tomá-lo nem muito apressado nem muito lento. Caminhou sobre as pranchas do pontão sem olhar pelas bordas, indo tanto pelo centro quanto não denunciasse em demasia o medo de cair na água. Lá dentro da chalupa, um barco esbelto e longo de quarenta pés e duas caras, pois que seu trabalho requer que popa e proa tenham a mesma construção externa, a guarnição tomava seus lugares e de cima se via um bailado preciso e calmo. Como se estivesse em terra firme e não pisando aquele casco sem quilha que às vezes parecia não emborcar apenas porque preso aos cabos, um negro amarrou um pedaço de estopa a cada chumaceira, equilibrando-se para fora num pé só. No banco de arvorar, o mestre de mar seguia os movimentos dos outros e alisava os cabos, o gurutil da vela ainda baixada e as costuras da verga de biriba que logo ia subir mastro acima, acompanhava a contagem e arrumação dos arpões nos guarda-lanças, aprovava com as vistas a rotina do cafuleteiro preparando a areia da caixa que servia de fogão para arrumar-lhe em cima a lenha, limpando a cuia de medir farinha, ajeitando as panelas e os anzóis que trouxera para pescar de arrasto. O arpoador sentara no banco da volta, quase na popa, batendo a mão na madeira empretecida de calor por onde se enrolava o cabo do arpão. E logo, todos prontos, um moço pulou de volta ao molhe, para soltar as amarras e cair de novo na embarcação. Mas parou diante de Amleto, olhou para ele e para o mestre, que, lá embaixo, parecia não saber o que fazer. Amleto, experimentando pela primeira vez a visão próxima da saída de uma chalupa guarnecida e equipada para matar os grandes bichos que com uma rabanada demoliriam uma casa, se admirou em sofrer inveja daqueles pretos que para ele agora, muito a seu contragosto, se transformavam em guerreiros expedicionários, escravos mas com poderes que ele não tinha, e
achou no último instante que devia falar qualquer coisa, dar alguma ordem, passar alguma instrução imprescindível, mostrar-lhes o que realmente eram. O moço fez menção de curvar-se para soltar a laçada da amarra, parou a meio caminho, empertigou-se olhando para ele. — Atenção — bradou ele, e todos os pretos da guarnição obedeceram. — Atenção! Porque Amleto estava contra o sol que já vinha aparecendo pela frente do Recôncavo, o mestre pôs a mão espalmada na testa e esperou. Esperou muito tempo, a celagem da manhã se desdobrando, a água se tornando vermelha e dourada, as nuvens esfiapadas se desmanchando, os passarinhos principiando toda sorte de atividade, a maré chapinhando como um relógio. Amleto inspirou fundo. Que entenderiam eles do que lhes podia dizer, que sabiam além daquilo que faziam? — Muito bem — disse finalmente. — Podem ir! Mas, de alguma maneira, percebeu que não era nem podia ser necessário ali, que não havia acontecido nada que pudesse contar sem mentir, que o ar ficava um pouco musical quando, os remos recolhidos como as pernas de um peguari, a chalupa baleeira Liberdade, já livrando a pequena barra alegre feito um cabrito, içou sua vela quadrada e pardacenta, cambou a bombordo, endireitou e fez rota para o bojo da baía, onde já se viam com facilidade os contornos das baleias parecendo vulcõezinhos móveis fraldejando a costa. Falarei desta partida durante a visitação, resolveu Amleto, pensando se não haveria uns versos de Virgílio, sobre heróis a fazer vela, anotados em seu caderno. Poderia decorá-los antes das sete horas, quando sairia a excursão? Sim, mas já se lembrava deles vagamente, pois pedira ao pároco para anotá-los depois de um sermão na missa do Senhor dos Navegantes. Sim, lembrava-se bem: achei tanta evocação na força desses versos, reverendo padre, que lhe peço vênia de copiá-los para minha elevação. Stabant orantes primi transmittere cursum, tendeban... como era mesmo? E em francês, nada em francês? Não, nunca ouvira ninguém falar francês, tinha somente uma ideia nebulosa de como pronunciar as palavras. Não, latim. O latim, afinal... Stabant orantes! E caminhou tão entretido em seu exercício, que já tinha percorrido de volta metade da extensão do molhe, quando levantou a cabeça e viu, chegando à praia, a negra que saíra da casa do peixe em companhia do arpoador. Devia ser jovem, tinha a cintura esguia, os quadris largos e benfeitos, as pernas compridas — como seriam os peitos? Amleto sentiu um estremeção, a boca salgada, as virilhas quase estalando, queria olhar os peitos dela, podia vê-los, pegá-los, fazer com eles o que quisesse! — Siu! — chamou, e passou a trotar pelo molhe sem se dar conta. — Siu! Tu aí! A primeira coisa que notou, quando ela se voltou, foram os cabelos. Eram diferentes dos cabelos da maioria dos negros, não eram pixains nem lisos, desciam em torno do pescoço e para os lados como um xale felpudo. O rosto, sim, o rosto era muito bonito, os olhos grandes e pestanudos, o nariz de asas esculpidas, a boca e o queixo fortes mas não hostis, um sinal estranho na testa. E os peitos, de que Amleto não conseguia desviar o olhar, levantavam a bata de tecido cru, eram bichos vivos debaixo do pano. — Quem és, como te chamas? — Venância. — Ah, sei, já te vi por aqui faz muito tempo, pescando com aquele preto abobalhado, como se chamava ele? — Turibo, Turibo Cafubá, meu pai.
— Teu pai? Que é feito dele? — Morreu faz anos. — Tua mãe, tens mãe? — Minha mãe deram como cozinheira. Embora ela tivesse o rosto severo e mirasse em frente quase com dureza, Amleto ficou ainda mais excitado pela voz grave e feminina, as calças estourando da vontade de tocá-la, e chegou muito perto dela, que não se mexeu nem alterou o semblante. — Quero ver teus peitos. Ela não disse nada, continuou como estava. Com uma ansiedade insuportável, ele levantou a bata, viu trêmulo a barriga e o umbigo aparecerem primeiro, quase arrebenta quando, primeiro o esquerdo, depois o direito, os peitos bambalearam um pouco por causa da puxada para cima e se aprumaram em curvas delicadas, os bicos apontando com leveza para cima, o rego entre eles coberto de uma penugem secreta. Amleto ofegou, quis gritar por tê-los assim tão perto, tão visíveis, tão tocáveis — como dizer o que se sente? — Vou pegar neles — disse, e ela não respondeu. Devagar inicialmente, depois como se quisesse transformá-los em massa de pão ou fundir com eles os dedos, apertou os peitos de olhos fechados, curvou-se e chupou um e outro com toda a força, enchendo a boca tanto quanto podia. — Não sente nada? — perguntou, afogueado e enlouquecido, beliscando entre os polegares e os indicadores cada um dos mamilos. Afastou-a segurando-a pelos ombros, as dobras da bata se multiplicando sobre os peitos expostos. Sentindo que estava pálido e vermelho ao mesmo tempo, suando muito no rosto e nas pernas, estendeu uma mão espalmada e mostrou a ela a braguilha intumescida. Ela acompanhou o gesto com os olhos, sem mudar de expressão. — Vês? Vês? Vês como fico por ti? Mais uma vez ela não disse nada e, puxando-lhe a mão inerme para esfregá-la por cima da braguilha, ele ia ordenar “aperte, aperte!”, quando um estertor invencível lhe constrangeu o escroto e, sem poder abafar os gemidos, escorregou as mãos pelos braços dela abaixo e terminou de gozar sentado no chão, quase deitado, as pernas somente aos poucos deixando de tremer. — Posso ir? — perguntou ela, com a voz tão indiferente quanto o rosto. Ele não acertou a responder, teve vergonha de olhar para cima, fez um aceno apressado antes de levantar-se e ajeitar-se. Ela baixou a bata por cima dos peitos, deu-lhe um puxão leve para cobrir a barriga, virou as costas e foi andando sem pressa, em direção à trilha dos cajueiros. Enfiando afobadamente um lenço por dentro das calças, Amleto inspecionou-se e achou que tinha tempo de sobra para voltar à casa e mudar de ceroulas.
Muitas coisas neste mundo não podem ser descritas, como sabem os que vivem da pena, azafamados entre vocabulários e livros alheios, na perseguição da palavra acertada, da frase mais eloquente, que lhes possam render páginas extras de prosa à custa de alguma maravilha ou portento que julguem do interesse dos leitores, assim aumentando sua produção e o pouco que lhes pagam. Recorrem a comparações, fazem metáforas, fabricam adjetivos, mas tudo
acaba por soar pálido e murcho, aquela maravilha ou portento esmaecendo, perdendo a vida e a grandeza, pela falta que o bom verbo por mais bom não pode suprir, qual seja a de não se estar presente ao indescritível. Nas minudências da intriga e do enredo, amores dificultados, maldades contra inocentes, dilemas dilacerantes, azares do Destino, coincidências engenhosas, surpresas bem urdidas, arroubos de paixão e tudo o mais que constitui justa matéria dos romances e novelas, nisto sai-se ele menos mal, conforme sua destreza no ofício, sendo esses enredos e intrigas os mesmos desde que o mundo é mundo. Como, porém, descrever um cheiro? Um cheiro não, este vapor fatal, este miasma fabricado nos infernos, este fartum de coisa putrescente, de coisas rançosas, coisas gangrenadas, coisas azedas e repulsivas, coisas insuportáveis de imaginar, agora que o vento se encana por onde a carcaça da última baleia congrega nuvens de urubus e as caldeiras de fazer óleo baforam lufadas encardidas de uma fumaça impossivelmente fedentinosa. Os dois mais setenta fedores bem definidos, que afligiram o poeta na cidade de Colônia? O cheiro do famoso ovo de duzentos anos? O cheiro das cocheiras de Áugeas no sol a pino? Certamente tudo isso, mais a inhaca de seiscentos demônios, começa agora a envolver o cortejo sóbrio e compassado que lá vem, dobrando o fim da longa senda que desce da casagrande e tomando o caminho de terra paralelo à praia. Na frente, em cadeirinhas de arruar iguais, rústicas como convém aos utensílios do campo, mas nem por isso menos confortáveis tanto para passageiros quanto para negros carregadores, vêm o cônego visitador e o barão de Pirapuama. Antigamente essas cadeirinhas tinham apenas quatro braços, fazendo com que se usassem somente dois negros, ou quatro ocupando cada só um braço, tanto uma hipótese quanto outra bastante incômodas para todos, principalmente em marchas mais longas e acidentadas. Por isso o barão encomendou a seu mestre carpina que lhe fizesse de boa madeira essas cadeirinhas cujos braços, à frente e atrás, se bifurcam em tal disposição que quatro negros, sem atropelo ou desconforto, podem transportá-las usando suas oito mãos. E assim mesmo vêm o cônego e o barão balançando no compasso de suas parelhas, circundados pelo séquito dos convidados, que caminha a pé, com Amleto destacado, explicando todo o percurso em estilo e gestos de orador. Já os pretos das caldeiras os veem chegando ao longe, quando o cônego levanta os braços e o cortejo para. — Baixem, baixem! — ordenou o barão, assim que os pretos se detiveram. — O monsenhor sente-se mal? Não, não se sentia mal o monsenhor. Mas, pensando bem, talvez sim. Que cheiro tremendo era aquele, cada vez mais forte e avassalador, que vinha entremeado por bulcões de fumaça ocre, igualmente mefítica? Ouvira e lera relatos sobre os padecimentos dos capelães obrigados por dever sacerdotal a encomendar as almas dos defuntos de guerra e muitas vezes tivera pesadelos em que se horrorizara com a fetidez inimaginável dos campos de batalha, mas nada do que pudesse haver sonhado e muito menos sentido podia ombrear-se àquele bafo diabólico. Compreendia agora por que o senhor barão havia tanto gabado a situação da casagrande, colocada vento acima e a distância segura da fonte desse cheiro inenarrável. Era sempre assim, neste estabelecimento? — Bem — respondeu o barão —, estão tratando de terminar o desmancho de um madrijo, que não quis que acabassem ontem, por ser domingo e tempo de Santo Antônio e estar a visitar-nos Vossa Reverendíssima. Por mais que se tome cautela, esses animais são
montanhas e o descarnamento nunca fica completo. Mas não podemos deixar de aproveitar a gordura, as safras andam pequenas e a produção de azeite tem estado muito abaixo da que esperávamos. Não deseja Vossa Reverendíssima assistir ao desmancho de uma baleia em nossa indústria? Testemunharia quantos cuidados, despesas e trabalho nos custa a produção do azeite sem o que não se poderia viver com alguma decência nestas paragens e em muitas outras. E veria, se me permite Vossa Reverendíssima, algo que não se vê em Roma. — Uma dessas baleias? In acto moriendi? — Não, já morta e bem morta. Já nos chegam mortas, atadas aos costados das lanchas. — Menos mal. Mas, se me perdoa o senhor barão, como fazer para suportar o cheiro, que daqui já se faz sentir com tanta potência? — Depois de algum tempo o nariz se habitua, como que se amortece, já não se afeta. — E a fumaça? — Esta, à medida que nos aproximarmos, deixará de atingir-nos, o vento a leva para cima, naquela direção. Infelizmente, não devo ordenar-lhes que parem, pois assim se estragaria toda a carne e a gordura que estão agora a derreter. Toma às vezes mais de um dia e uma noite para que se funda toda uma baleia, se é graúda. Temos trinta e duas caldeiras, uma capacidade de cerca de quinze tonéis, mas na safra muitas vezes não damos vencimento a todo o trabalho, mesmo com os negros parando somente à hora do almoço e virando a noite. — Quantos negros há lá trabalhando? Perilo Ambrósio olhou para Amleto, que saltou com animação para falar. Não havia um número certo, explicou, isto dependia da quantidade de trabalho e da pressa que tivesse alguma encomenda, como, por exemplo, a que fosse ditada pela necessidade de carregar um vaso mercante atracado no porto da Bahia, com azeite vendido para a Europa. Nessas ocasiões, dobravam ou triplicavam os negros do desmancho, o que não era fácil, pois a tarefa requeria aptidão e prática. De qualquer forma, tinham vários mestres e oficiais retalhadores que faziam os cortes principais, enquanto outros aprontavam a banha, coisa não tão difícil, bastava que preparassem tijolos de mais ou menos duas libras, para serem levados à fundição. Este também era trabalho simples, embora complicado pela fumaça, o calor e a falta de cuidado com que os negros às vezes se deixavam queimar por esguichos da banha fervente, principalmente os meninos e meninas, que constituíam a maioria dos trabalhadores da fundição, no serviço de transportar gordura e jogá-la nas caldeiras. O senhor barão, tão imerso nos altos pensamentos e negócios em que o interesse da pátria lhe tirava o sono, houvera cometido uma pequena distração, porque por ordem dele mesmo as caldeiras foram aumentadas de trinta e duas para quarenta, já havia quase dois anos. Restava providenciar alguns reparos no conjunto de canos e tubos que levavam à chaminé, cuja capacidade havia que ser ampliada para dar vazão à fumaça de todas as caldeiras, razão por que, desculpasse Sua Reverendíssima, ela agora volta e meia descia sobre eles, em vez de ser espalhada no alto pela chaminé, como deveria. Existiam, contudo, vantagens na fumaceira, por paradoxal que pudesse isto parecer à primeira vista. Tinha ela o efeito de reduzir os enxames copiosos de moscas e moscardos, aqui chamados pelo vulgo de mutucas, insetos de insuperável impertinência, frequentemente aparecendo em números tão vastos que, mesmo com a fumaça, dão aos negros cortadores e frigidores a aparência dos lampiões que no inverno se veem
rodeados por multidões de mariposas e formigas de asa. Tampouco aos urubus favorecia a fumaça, embora esses abutres repulsivos demonstrassem invenção, inteligência e ousadia, eis que, em voos baixos sob ela, aproximavam-se das instalações por suas entradas naturais e, até caminhando pela lama, chegavam a atacar alguns negros pela posse de nacos da carne e gordura das baleias. Mas não desejava o monsenhor pôr ao nariz um lenço perfumado, para que ele e o barão pudessem chegar mais perto da fábrica sem ofender-se? — Se fosse possível... Amleto dirigiu-se aos dois negros que estavam à frente da cadeirinha do cônego, escolheu o gordo e baixo, mandou que fosse correndo à casa-grande, buscar lenços perfumados. O negro saiu bem mais rapidamente do que seu peso faria prever, e o cônego riu. — Curioso critério, este. Se queriam que corresse até lá, não era mais certo que escolhessem o magro? — O negro Sabino é gordo assim, mas é dos mais despachados que temos, imagino que vem de uma parte d’África onde os negros são corredores e mateiros. E este cá não fala. — Ah, é mudo? Amleto começou a responder, demorou muito em articular qualquer coisa, olhou aflito para o barão. Mas o barão, com o punho cerrado em torno do suporte do sobrecéu da cadeirinha, não se perturbou. Pelo contrário, falou mais alto e com mais veemência do que tencionara, como se estivesse fazendo uma proclamação indignada, libertando-se de algo que lhe obstruía o peito. — Não é mudo! — disse, olhando o preto fixamente. — É desleal! Era preto de grande confiança da casa de meu pai e meu próprio, esteve mesmo comigo nos combates de Pirajá e em outras frentes em que combati na guerra da Independência. Ao contrário do outro negro que me acompanhava e que morreu lutando bravamente — não quero repetir uma história que já todos conhecem e que não me traz mérito, pois que apenas cumpri o meu dever de patriota —, ao contrário do outro, este se mostrou um poltrão acobardado. Mas levaria esse comportamento na conta dos defeitos de sua raça, como sempre levo, não fosse que, ao chegar de volta à nossa casa, passou a contar tais e tão desonrosas mentiras que, fora eu um senhor menos benevolente, ele não mais estaria vivo, tamanha a sua desfaçatez, sua vileza, sua torpeza mesmo. Mas, guiado como de costume pela compaixão, castiguei-o apenas na medida de sua falta, a principal entre muitas, da qual o livrei para sempre. Não mentirá mais, deste pecado poderá ser absolvido, à custa embora de me haver obrigado a vencer a natural repulsa que tenho aos castigos, só os aplicando porque não me deixam outra escolha, não me deixam outra escolha! — Que castigo lhe foi dado? — Fiz-lhe cortar a língua, simplesmente, o suficiente para que possa continuar a comer a comida que não merece que lhe dê e para que não se entendam as patranhas que, tenho certeza, ainda contaria se pudesse. O cônego olhou para o negro Feliciano com interesse. — Cortou-lhe a língua, hem? — Audi, vide, tace — disse Amleto. — Sim, sem dúvida. É uso comum aqui, há muitos deles assim? — Não — explicou o barão. — Ouço dizer que, nas terras interiores da Província,
onde a vida é mais rude e o trato enérgico é mais necessário, até mesmo em alguns engenhos da orla deste golfo, há senhores muito rigorosos com os pretos. Aqui não, aqui só temos a disciplina indispensável. Como fugir destas terras é muito difícil, nenhum se atreve a tanto, não encontrando Vossa Reverendíssima qualquer negro aqui com o pé decepado, que é como se exemplam os fujões reincidentes. Também poucos capões há, somente uns dois ou três dos mais velhos. — Nas fazendas de meu irmão, que cria algum gado, ele faz castrar os negros do trabalho da casa e de serviços mais delicados. E diz-me que assim obtém bons resultados, eles ficam mais calmos e pacíficos, prestam-se melhor a suas tarefas. — Não duvido que assim seja, pois as conveniências variam. Aqui já não os castramos, mesmo porque... — Ora, senhor barão, pode falar, sei o que quer dizer. Como o trabalho dos moleques aqui é muito útil, há que fazer com que os negros se reproduzam. É a mesma coisa nas minas, pois sempre existem galerias e escavações onde as rochas não permitem a passagem de um corpo crescido. — Perfeitamente. E não é só por isso, achamos mesmo que é trabalho desnecessário. Alguns até morrem se os castramos à faca, e com a maça muitas vezes criamos dores de cabeça ainda maiores. Pode-se inutilizar o negro para o trabalho desta forma, os riscos de prejuízos são grandes, muito embora ainda tenhamos bons castradores de porcos com alguma experiência na capação de negros. Tampouco os ferro mais, como se fazia no tempo de meu pai, que ferrava os machos e as mucamas do serviço de minha finada avó, estas com o monograma que ela mesma desenhara para seus pertences. Hoje é prática inútil, pois os negros não têm para onde ir e, desvalidos de nossa assistência, morreriam por aí à míngua, como acontece com tantos libertos vadios e nocivos. — Sim, já não se pode sair à rua nas cidades sem que haja uma malta deles a importunar os passantes e a empestear tudo em volta. — Pois então! Mas onde está a autoridade do governo, onde está o discernimento do bem geral, que não se pode nem falar em meter essa gentalha ociosa a trabalhar forçada nas obras públicas e em tantas outras onde teria serventia, sem que se levantem esses que julgam poder fazer prosperar um Império com luvas de pelica e obras de caridade? Hoje o que se vê é que paga mais a pena ser vadio e sem ocupação que indivíduo prestante, e ainda lá dizem mal, sem nada conhecerem do que se passa, dos homens como eu, que no ostracismo carregam a Nação às costas! Que fariam sem produção? Viveriam de almoçar discursos e beber as lágrimas que derramam pelos desocupados e inúteis? Estes, sim, os primeiros a apunhalá-los por trás, assim que chegue a seu ápice, como está a chegar, a anarquia e o esquecimento dos modos austeros de conduta! Sou sincero com Vossa Reverendíssima quando digo que, como brasileiro, patriota e temente a Deus, não posso deixar de abrigar esperanças, embora não as justifique senão pela fé. De resto, monsenhor, temo, temo, temo pelo futuro do Brasil. O cônego fez o bico costumeiro, balançou a cabeça aprovando tudo aquilo, suspirou como quem já desesperou de tentar fazer ouvir a razão. Comentou distraidamente a solução encontrada pela América do Norte, país pouco civilizado mas de gente decidida e de caráter, para limpar-se de seus pretos e mestiços libertos — pois lá não se faz como aqui, onde se
permite aos pardos e cafusos a vida em comum com a gente branca até como se brancos fossem —, solução esta que consistiu em estabelecer para eles seu próprio Estado em algum lugar da Costa da Pimenta, para as bandas da Guiné, no qual podem continuar seu viver de animais sem a ninguém incomodar. Nisto, aliás, seguiram os americanos o exemplo de seus ancestrais ingleses, que desde muito já haviam feito o mesmo na Serra da Leoa — acrescentou, suspirando mais uma vez e vaticinando o brilhante futuro da América do Norte, se comparado ao do Brasil, embora não se saiba se são adiantados os de fala inglesa por praticarem tais ideias ou se praticam tais ideias por serem adiantados, uma coisa, afinal, não se podendo, em última análise, distinguir da outra. Parvis componere magna? — indagou dando de ombros, enquanto o negro Sabino voltava com dois lenções brancos e um frasco de óleo de vetiver da Índia, que a senhora baronesa muito recomendava para tais propósitos de abafar maus odores. O barão umedeceu um lenço com o óleo, agitou-o um pouco para que a fragrância excessiva não o deixasse tonto, amarrou-o no rosto cobrindo boca e nariz, disse ao cônego que o imitasse. Também muitos da comitiva aceitaram a oferta da essência para salpicar seus próprios lenços, os pretos levantaram as cadeirinhas, o cortejo, agora mascarado e aromado, prosseguiu pela trilha junto à praia. Logo defrontaram o barracão sem paredes vomitando fumaça por todos os seus buracos, onde alguns meninos e duas ou três meninas entravam e saíam, no trabalho da fundição. Mais adiante, abrolhando por trás do telheiro como obeliscos entortados, as costelas da baleia em meio às levas de urubus. Do lado oposto ao mar, ondulando por cima dos morrotes suaves que socalcam as costas da ilha, o canavial dobrado na viração, empenando e desempenando alternadamente, não se sabendo se o cicio que modulava o ar vinha do vento peneirado pelos colmos ainda fininhos ou se vinha das asas jamais detidas dos urubus e das moscas. — Nada era esta gleba, senhor monsenhor, senão uma arroteia agreste e inculta, alqueivada apenas pela obra natural do Criador e nunca barbechada pela mão do civilizado... — começou a discursar Amleto, levantando o lenço da boca para que todas as belas palavras pudessem voejar desimpedidas.
Belas palavras essas que, debaixo do grande caramanchão entrelaçado de mimos-do-céu e maracujazeiros machos farfalhando e ostentando uma flor lilás aqui e ali, entre cantos de passarinhos e marulhos das águas, eram a mesma coisa que as frutas, os doces e os pastéis que se desmesuravam pela mesa abaixo, abarrotando as peças de faiança esmaltada e pondo toda sorte de estampados sobre a toalha branca. Eram assim tão sólidas essas palavras, talvez mais. Eram até mais palpáveis que as frutas e comidas, pontuadas pelo mastigar geral e às vezes perdurando muito tempo no espaço, como estas goiabas em calda purpurina, este milfolhas cuja talhadura se admira antes de mordê-lo, estes fios d’ovos cujas filandras enredam a memória, este cuscuz de carimã se derreando aos poucos no leite de coco, estes ananazes, estas romãs, estas sapotas, estas graviolas, estes jambos vermelhos e amarelos, estas mangas, estas pinhas, estas jabuticabas, estes cajás, estes abios, estes araçás, estas bananas-ouro, estas fatias de melancia, essas carambolas, essas pitangas, esses ingás, esses manjelões, esses mamões-da-Índia, esse refresco furta-cor que reluz nos copos. E era o cônego quem proferia as belas palavras, tornando a sombra do caramanchão ornamentada e rica e fazendo com que
todos renovassem o convívio, sempre tão esquivo e raro, com a Cultura, a Civilização e a Verdade. — Luigi Capponi — disse o cônego. — Sem dúvida conhecem-no de nome. Sem dúvida alguma! O grande Luigi Capponi! O Luigi Capponi latinista ou o Luigi Capponi fisiólogo e cirurgião? Este, talvez, se não há engano, era Caroni, Caloni... Luigi Capponi, sim, aqui nos vem à mente o grande Capponi, sem dúvida! Muito acertado, muitíssimo bem pensado, Luigi Capponi! — Luigi Capponi — disse o cônego outra vez, encostando as pontas dos dedos umas contra as outras e fechando os olhos. — O grande escultor dos santos que em Roma se notabilizou pela sua arte pura, sublime e de acordo com os melhores cânones. Os melhores cânones? Luigi Capponi, sim! O Santo Ambrósio com seu alveário de abelhas bem melíferas? O São Jerônimo com seu leão à entrada da sagrada caverna? O São Teodoro com seu escudo, sua armadura e seus paramentos de guerra? Sant’Ana e São Joaquim a receber o sacramento do matrimônio? — Luigi Capponi — repetiu o cônego, depois de uma longa pausa em que pareceu regozijar-se por tudo em torno e principalmente consigo mesmo. — O magnífico mestre escultor da igreja de São Gregório em Roma! O grande São Gregório, São Gregório Magno, São Gregório das trinta missas, São Gregório que das entranhas flamívomas do purgatório extraiu até mesmo a alma do imperador Trajano, de tantos e tão empedernidos pecados, São Gregório de que se dizia, e assim se o representa, ouvir do próprio Espírito Santo o conteúdo e estilo de seus sermões impertérritos, este São Gregório, esse São Gregório, esse Capponi! Esse Capponi! Fez outra pausa, fechou novamente os olhos. O mestre de Gramática Emílio Viana, pondo a mão no colarinho alto que lhe escorava o queixo, assentiu com a cabeça. Frei Hilário repetiu com reverência: “São Gregório, São Gregório Magno.” Esse Capponi! O juiz de órfãos Manoel Boaventura Bandeira ficou ainda mais sério do que de hábito, franzindo muito o cenho e a boca. Capponi, muito justamente, a igreja de São Gregório em Roma, esse Capponi! O cônego deu uma gargalhada repentina. — Mas que digo? — falou, depois de terminar seu riso intercalado de palmadinhas nos joelhos. — Estou eu aqui na companhia de pessoas ilustres, homens do melhor quilate, a desfrutar da hospitalidade sem par e sem rival do senhor barão de Pirapuama, a quem, se já tinha admiração pelo renome, mais tenho agora pelas obras, estou eu aqui, enfim, a falar de maneira a que vão ter-me por louco. Com efeito, que sentido vai em que esteja eu a tecer reminiscências sobre Capponi, São Gregório, Roma... Creiam-me, não tenciono fazer exibição, não seria aqui, entre homens letrados e de conhecimento, que iria dar lições, nem tampouco me tenta a vaidade, como bem sabeis. Mas... mas — como direi? — chegamos aqui ao alto desta colina tão aprazível depois da esforçadíssima viagem pelo estabelecimento industrial e seu, seu... seu odor extraordinário e depois... depois a capela de escravos e agora aqui, sentados, eu falando em Capponi. E sabem os senhores quem me acudia ainda agora à mente? Tiepolo! Sim, Tiepolo! Não conseguiu mais conter um riso convulsivo, parou de falar para gargalhar, dando a impressão às vezes de que ia ficar sério de repente, para em seguida curvar-se em riso outra
vez. Os outros, a princípio entreolhando-se com hesitação, mas depois se encorajando mutuamente, passaram a rir também e logo até os negros e negras também riam, o caramanchão agitado por tanta alegria. O cônego enxugou algumas lágrimas, suspirou, recomeçou a falar com alguma dificuldade. — Espero que me desculpem, mas talvez me compreendam melhor se partilharmos algumas reflexões, reflexões estas, tenho certeza, que já ocuparam, ou permanentemente ocupam, o pensamento dos presentes. Não podem elas deixar de ocorrer, é forçoso que ocorram, é imperioso que ocorram, é inevitável que ocorram, é inelutável que ocorram, ao espírito civilizado aqui perplexo pelo muito de inusitado que a experiência europeia encontra no Novo Mundo. Estava eu a falar em Tiepolo, em Capponi — e perguntareis: por quê? Respondo-vos. Respondo-vos a tal pergunta com outra pergunta, embora, ha-ha, não seja jesuíta. Respondo à maneira retórica dos mestres da Antiguidade, emprego de certa forma a muito justamente celebrada maiêutica, se bem me entendem. — A maneira socrática — interrompeu Amleto. — Perfeitamente — disse o cônego, com um sorriso perfurante. — Vejo bem que laborei em equívoco faz poucos dias, quando não fiz a estimativa devida do teu conhecimento. De mulato, dir-se-ia, só tem a aparência, assim mesmo aligeirada, para sua boa sorte. Gnothi te auton, sabe o que isto quer dizer? — Não, não. — É também socrático, é platônico. Quer dizer “conhece-te a ti mesmo”, nosce te ipsum, sapientíssimo conselho. Em suma, vê-te no espelho, enxerga-te etc. Percebes? Devo reconhecer, e por isso felicitar-te, que me surpreendeu muito agradavelmente o modo com que te houveste na condução do nosso passeio, falas bem, sabes ler. Gostarias, portanto, de falar em meu lugar, dizer aquilo que eu ia dizer, discorrer sobre o que eu ia discorrer? Teu pai, segundo contas, vem de um povo que se orgulha em ser filho espiritual do libertino rei Henrique, pode-se por conseguinte esperar qualquer coisa de ti, anda lá! — Não, desculpe-me Vossa Reverendíssima, foi somente uma exclamação que me escapou por entusiasmo, assim um arroubo... — Os mestiços são muito entusiasmáveis, não se lhes pode negar esta nem outras qualidades, que muitas vezes se sobrepõem à preguiça que lhes marca a reputação. Na verdade, sustento que a mestiçagem é uma real alavanca do progresso desta terra, pois que o espírito do europeu dificilmente suporta as contorções necessárias para o entendimento de circunstâncias tão fora da experiência e vocação humanas. Eis que o Brasil não pode ser um povo em si mesmo, de maneira que as forças civilizadoras hão de exercer-se através de uma classe, no caso os mestiços, que combine a rudeza dos negros com algo da inteligência do branco. As classes sociais das cidades gregas oferecem preciosas lições, a serem aproveitadas dentro das exigências modernas. Somente o ócio, o otium cum dignitate, permitiu o florescer do pensamento grego, pois do resto cuidavam os escravos. Mas eram escravos de raças letradas e inteligentes, brancos da Ásia Menor, às vezes gregos mesmo. As circunstâncias eram diversas, bem diversas. Os desafios que se abrem para nós são formidáveis, são imensos, são incomensuráveis, são inauditos. E com que contamos, como elemento servil? Com os negros, com a raça mais atrasada sobre a face da Terra, os
descendentes degenerados das linhagens camíticas, cuja selvageria nem mesmo a mão invencível da Cristandade conseguiu ainda abater ou sequer mitigar. De certa maneira, nisto se vê o dedo da Providência, embora a princípio não o se perceba. É que a selvageria da terra só pode ser enfrentada pela igual selvageria dos negros — e nisto são eles insuplantáveis, pois que, vêm de terra ainda mais hostil que esta, ainda mais eivada de perigos, sezões e animais nocivos. Se não temos escravos inteligentes, a quem possamos confiar até mesmo a formação dos jovens, como faziam os helenos, temos em compensação escravos rudos, capazes de enfrentar, sob boa, tenaz e dura direção, os trabalhos ensejados pelos nossos cultivadores e pelas nossas fábricas. Isto nos deixa somente a questão de quem irá ocupar-se da capatazia imediata dos escravos, quem cuidará dos assuntos intermediários, daqueles assuntos que, se não requerem inteligência superior — antes pelo contrário, estiolam essa inteligência pela mesmice, pela falta de invenção e pela ausência do sublime e do transcendental, galardão do verdadeiro pensamento e do espírito superior —, também não podem ser assimilados pela estupidez dos negros. Eis aí onde se encaixa como uma luva o contingente de mestiços na perfeita organização social, a única que poderá conferir a este país uma élite, como dizem os franceses, uma nata, uma aristocracia capaz de, como a grega, produzir e fazer medrar uma cultura de escol. Não vejo nem mesmo, e nisto também se sublinha o que pode ser nossa fortuna, nossa única boa fortuna, a necessidade de leis que refreiem a mestiçagem, pois, à medida que se solidifique, se enraíze, nutra suas tradições, fortaleça suas estirpes nossa aristocracia de fundamentos espirituais europeus, na pureza da raça, de temperamento e de apego aos valores mais altos, as próprias forças sociais se encarregarão de prevenir tal ocorrência. A natural repulsa do civilizado ao contacto com o negro ou o mestiço, os bons instintos cultivados, com espontaneidade e sem cuidados maiores do que governos cientes de suas responsabilidades históricas, porão as coisas a acontecer como é de sua tendência normal, ditada pelos impulsos corretos da História. É assim que vejo o papel dos mestiços, importante, importantíssimo papel, e não cuides que não gosto de ti, pois gosto, apenas te acho uma pitadita petulante, vício que é da minha disposição constitucional combater. Podes crer, ha-ha, que há lugar na terra e no céu para ti. O teu lugar, naturalmente, se bem me entendes, ha-ha. Mas vês, vês como, da mesma maneira que no outro dia, quando insistias em debater comigo assuntos da filosofia natural, fizeste-me perder o fio, causaste agora a mesma coisa. Falava eu que... Ia dizer alguma coisa... Vês, assim me fazes parecer um tagarela, quando uma das virtudes que melhor cultivo é ouvir mais que falar, escutar mais que dizer. Queria ouvir de vós, não falar-vos tanto. Mas, provocado... Que dizia eu? Sim, que dizia? Que palavra fácil, que verbo incendiado, que pensamento certeiro e agudo, que franqueza refinada, que conhecimento da vida e da História! Quando teremos homens públicos desse porte? Como tudo parece fácil ao ser dito por ele, como se encaixam os pensamentos, como se encadeia o raciocínio! Falava de Catoni, Capponi, São Gregório... Ria muito, Sua Reverendíssima, estava rindo muito, todos tinham rido, lembra-se? E que simplicidade que tem, homem de tal posição, tal envergadura, tal importância! E que espírito, que troça, que chiste, que graça — não sou jesuíta, dissera. — Sim! — iluminou-se o cônego, que, de olhos baixos, mãos recolhidas no regaço, entregava-se com modéstia ao reconhecimento de seus dotes, agora pululando animadamente pela plateia. — Sim! Falava que não sou jesuíta, pois tem a Societas Iesus a reputação de agir
assim: a uma pergunta, disparam-nos outra. Conhecem-se por essa prática, frequentemente enervante, os egressos de seus liceus e colégios. Mas eu ia fazer a mesma coisa que eles, pois, afinal, não são estultos os jesuítas, nem serei eu como os estultos de Horácio que, para evitar um vício, vitia in contraria currunt, caem no vício oposto. Não. Se a perseguição assídua deste vício dialético o torna cansativo, quiçá odioso, seu emprego ocasional não deixa de ter algum encanto e utilidade. Sim, a pergunta que vos fazia no fundo tem a ver com o que acabo de falar. Pois perguntar-vos-ia simplesmente: que faz o senhor barão aqui? Que faz ele? Qual a sua missão? Pois eu mesmo, data venia, respondo-vos. O que faz ele aqui é lutar contra sua inclinação natural de homem superior e forcejar, premido pelas carências deste país, contra as acabrunhantes dificuldades do meio e das condições existentes. Vedes como nos trata, com que fidalguia, com que fineza, com que delicadeza. E aqui, neste breve hiato, sob esta sombra amena, sub tegmine fagi, dir-se-ia mesmo que estamos num bosque d’Áustria. Mas não estamos. Sabe o senhor barão, por muitos títulos herói e maior herói ainda quando se pensa na contínua guerra que aqui peleja, que não estamos. Vereis que ainda há mais razões que as expostas para que a organização nacional se faça dentro dos moldes que descrevi, pelos motivos que descrevi. Falei em bosques. Haverá bosques aqui? Ou tão doce palavra não passa de reminiscência avoenga que perdura em nossos corações, pois não foi feita a nossa raça para aqui habitar, estando aqui apenas como num penhor de sacrifício à Cristandade e à civilização, como missionários, verdadeiros missionários, que somos? É preciso que a Cristandade e a civilização venham para aqui, somos os seus sustentáculos, a sua linha de frente, os seus soldados mais martirizados. Mas isto não significa que nos deixemos corromper pelo meio enfraquecedor, debilitante, degenerescente e isolado em que somos forçados a viver, que nos esqueçamos de quem realmente somos, antes pelo contrário, pois, se assim acontecesse, perderia sentido o estarmos aqui, já não seríamos leais representantes daquilo que nos cabe representar e que é da nossa própria constituição. Se mudássemos, já não seríamos aqueles emissários — missionários, insisto — da Cristandade e da civilização a que fiz referência. Cabe-nos preservar, conservar, manter. E preservar não é somente trazer viva a memória de quem somos, mas dotarmo-nos das condições a que temos direito e sem as quais feneceremos. Perguntava eu: é isto aqui um bosque? Não é um bosque. Agora se mostra mais ameno, mas sabemos que aqui não há bosques, nem pode haver paz bucólica entre bichos venenosos, cobras, plantas que causam todos os males, chuvas desmesuradas, calores insofríveis, insalubridade perpétua, em clima cuja umidade de tal forma sustenta os vapores e pneumas que transportam as pestes, sendo de admirar-se que haja tão poucas delas. Não temos estações, chove ou não chove. Não temos frutas — e sei como se esforça o senhor barão, este varão eminentíssimo, para implantar aqui novos cultivares, mas simplesmente as boas árvores frutíferas cá não vingam, não suportam a excessiva riqueza de humores da terra, o sol inclemente e outras condições. Temos estas que aqui estão e que não fazem mal, mor parte delas, se comidas raramente e com prudência. Mas, se tornado em hábito o seu ingerir, sabemos muito bem que os nossos aparelhos orgânicos não lhes podem tolerar os sumos causticantes, os princípios desequilibradores das quatro categorias clássicas de Galeno em que todas elas são abundantes, por não maior razão do que crescerem e vicejarem neste solo que só se presta a certas aplicações. Onde estão as cerejas do outono, os pêssegos
perfumados, a salubérrima maçã, as delicadas peras, as suavíssimas ameixas? Onde está a alegria luminosa da primavera, a sucessão das sazões ano a ano, lembrando sempre ao homem a mão do Criador e inspirando-o a novas conquistas? Onde estão as vinhas e os parreirais, os inspirados espíritos de vinho que delas derivam seus princípios inefáveis? Não, senhores, é o que vos digo e o que bem sabeis: ou nos conservamos em moldes aristocráticos e organizados da forma que já tive oportunidade de descrever, ou fatalmente seremos os governantes de um povo fraco, nós mesmos contaminados por tudo aquilo que devemos abominar. Ria-me há pouco, falava em obras de arte, em seus ilustríssimos executores. Que faz o senhor barão aqui? — perguntava eu. Pois bem, esforça-se em trazer para aqui a cultura e a civilização, mas receio poder demonstrar que, sem o recurso a uma política completa para a Nação, naqueles moldes gerais e em mais muitos pormenores aparentados, tais sofridos e meritórios trabalhos poderão mesmo vir a resultar em coisa oposta à pretendida. Não me tenhais por impertinente, antes por bom amigo. Pois, em todas as palestras com que me deleitou e enriqueceu o senhor barão, percebemos, verificamos, sentimos, compreendemos, vimos, descobrimos, reconhecemos, averiguamos enfim a perfeitíssima parecença, diria mesmo irmandade, do nosso modo de pensar, desminta-me ele se falto à verdade. Assim é que não falo por impertinência, senão por grande amizade e interesse desprendido, eis que o meditar sobre nossa condição se torna cada vez mais imperativo. Que vimos na capela dos escravos, onde generosamente permitiu o senhor barão que trabalhassem libertos e mestiços em artes que não têm aptidão para abraçar, pois que são próprias da civilização superior — a arte que tem cãs, como dizia o grande mestre da parenética? Vimos muitas coisas, todas as quais corroboram o que digo. Vimos visões e milagres pintados contra todas as boas regras da composição artística. Em tudo e mais tudo, credências, castiçais, serafins, cimalhas, palmas, tocheiros, a talha miúda, em tudo e tudo, lá está o toque grosseiro da mão inculta e sem educação. Vimos santos mulatos! Representações ofensivas de doutores da Igreja assemelhados em aparência a uma gente que se expressa por batuques e grunhidos, incapaz de assimilar um instrumento tão nobre e perfeito como a língua portuguesa, a qual fazem decair assombrosamente a cada dia que passa, a ponto de doerem os ouvidos e sofrer a mente diante de sua algaravia néscia e primitiva! Sabeis muito bem que chamavam os gregos aos bárbaros de bárbaros em imitação do tartareio desses povos vandálicos e delinquentes. Pois que tudo o que tartamudeavam soava como bá-bá-bá — perdoai-me se não contenho o riso. Ubicumque lingua romana, ibi Roma! Vede o que acontece diante de nós. A língua, aviltam-na e degradam-na. A moral — sabemos bem disto e como sabemos! — empalideceria o próprio Inimigo ao conhecer tudo o que fazem e praticam eles, a quem hoje chamamos de povo e a quem ainda por cima chamamos de povo brasileiro, como se fosse possível a atenienses chamar hilotas e escravos de atenienses, como se o espírito da Ática viesse pelo ar e pela convivência, em lugar da nascença, da estirpe e da boa formação racial e pedagógica. Não quero, obviamente, fazer, nisto que agora vou dizer, alusão alguma ao irmão Hilário, aqui presente, cuja probidade sei estar acima de qualquer desconfiança, mas confirmará ele mesmo que os próprios mosteiros e irmandades se transformaram, pela influência corrutora do meio, em verdadeiros poços de iniquidade e crimes, tanto assim é que, depois de pilharem dezenas e mais dezenas de frades a contrabandear ouro e pedrarias, os funcionários do Reino tiveram de proibir que se estabelecessem essas ordens na região das Minas. Não estremeceria o valoroso orago dessa
capela, um dos mais santos entre todos os grandes santos, ao ver a que ponto a falta de vontade nacional, o comando não fundado em bases filosóficas profundas como as que aqui tangenciei, pode estar levando este país sobre o qual temos responsabilidade, somos os únicos que têm essa responsabilidade, os que têm a portar a maior carga sobre as espáduas, pois nos espreita e vigia a História, pode estar levando este país, dizia eu, a tornar-se exemplo tão hediondo da degradação da civilização, da cultura e do espírito humano, que talvez nem mesmo a infinita misericórdia divina encontre razões para absolver-nos por nossa incúria e, em muitos casos, até mesmo grossa cobardia? Não estremeceria esse grande santo? As práticas de trabalho, que deviam causar escândalo a todos os homens dignos, já de muito permitem ao elemento servil o ócio, já de muito se afrouxam e se abastardam. Se desde o início nunca fomos capazes de manter corporações formadas na boa hierarquia do trabalho — sim, porque estamos em país no qual o companheiro é mestre e o aprendiz é oficial —, a cada dia se vê que a ordem e a tradição são violadas, com consequências que, Deus nos ajude, podem ser tão horripilantes que nos custa estimá-las. Há uma corporação a assinar a autoria das peças da capela? Não. Há os nomes dos pretos e mestiços que as trabalharam. Qui pinxit? Deixai que ria! Pinxit um Bonfim qualquer, um Conceição qualquer, um Anunciação qualquer, um do Amor Divino qualquer! Ora, a autoria individual é para a grande arte, não para esse simulacro grotesco que hoje se espalha por toda a Nação, cujos dirigentes precisam enxergar que ou tomamos as rédeas agora, neste instante, ou jamais as tomaremos! Mas não, acontecem essas coisas, vem para cá uma tal Missão Francesa a divulgar impropriamente as belas-artes, como se aqui tivéssemos um povo igual ao francês e não súcia de frascalhos, pirangueiros, servos rudíssimos, um povo feiíssimo, malcheiroso, mal-educado, ruidoso, estólido, preguiçoso, indolente e mentiroso, como sabeis muito bem todos, pois se lidamos com ele — mea culpa, nostra culpa! — todo o tempo, para grande padecimento e maior penitência nossa. Cruzaremos os braços? Assistiremos a tudo sob um pálio mortal de indiferença? Continuaremos a tratar o nosso elemento servil melhor do que tratam o elemento servil nos países civilizados? Permitiremos que a educação se faça da mesma forma para todas as classes, assim perpetuando e agravando a degradação já tão tristemente exibida em toda parte? Pérolas aos porcos? Pergunto-vos: pérolas aos porcos? A verdadeira educação leva em conta a necessária distinção entre as diversas classes de homens. Os maiores danos estão a germinar agora, para mais tarde eclodir. Onde está o grão-capataz indispensável para organizar o elemento servil e o elemento intermediário, deixando assim à aristocracia nacional a tarefa de erguer aqui uma verdadeira cultura, uma verdadeira civilização? Onde vemos o traçado dos destinos nacionais? O nosso fardo é pesado, nossa senda é madrasta, mais do que nunca ad augusta per angusta! É esta a arte, e essência de nossa política, da política que só podemos perder de vista à custa da nossa própria sobrevivência e de tudo o que prezamos, amamos e representamos. A arte da política nada mais é que isto: é a arte da conservação do bom e da extirpação do mau. Sopesai minhas palavras, senhores. Não podemos deixar de esvurmar as feridas, por mais que nos seja doloroso. Tenho, apesar de tudo, fé e confiança no futuro, pois que, louvado seja Deus, homens como o senhor barão ainda adornam nossa vida pública, nosso comércio, nossa indústria e nosso governo, e eles não permitirão, não deixarão, não consentirão, não admitirão que o sol da verdade seja obumbrado
pela nuvem atra da ignorância e da inconsciência! Sob toda a extensão do caramanchão, até as folhas pararam alguns instantes de ramalhar, a luz ficou vítrea como se não pudesse atravessar inteiramente a densidade do silêncio, todos levaram muito tempo para mover-se outra vez, parecendo que acordavam devagar. Alguns, emergindo de um mundo distante, olharam em redor como quem acha que deve dizer qualquer coisa mas não encontra o quê. No fundo do túnel verde, contra a cabeça do cônego, duas negras viram — e apertaram secretamente seus breves — a mariposa Curuquerê esvoaçar como se fosse pousar nele, para depois sumir. Perilo Ambrósio, de pé e falando ao cônego sobre como era de lamentar perder-se ali, naqueles ermos, o mais inspirado e importante discurso que já escutara, sentiu a boca encher-se de água e de um gosto acre, pensando mais uma vez na negra Vevé, como estivera pensando o tempo todo.
Quem é aquele que lá vem lá longe, todo serelepe, lépido e fagueiro? Ora se não é Nego Leléu muito bem fatiotado, chapeirão de couro mole, burjaca toda catita, pantalonas mais que galhardas, gravata tipo plastrão, alcobaça repolhada, camisa de batista fino, ceroulas do melhor algodãozinho, um par de chapins lustrosos pendurado nos dedos, embotadeiras com ligas de cadarço jogadas no ombro — e as piores intenções! Herege que só o Cão, que vinha fazer com cara de anjo na festa do santo, viajando légua e meia, desde a praia do Duro, a praia de Cachaprego, a praia de Berlinque, tantas e tantas outras praias pelas beiras da ilha abaixo? E assim tão bem-posto, tão garboso e belo, cheio de donaires, carregando na mão os sapatos para que não se molhassem nem se sujassem na caminhada — borzeguins da cidade da Bahia feitos de encomenda, grande novidade, um diferente para cada pé, não é coisa de chineleiro! Quem visse assim sua marcha altiva e sua roupa airosa podia pensar que era um negreiro preto muito rico, ali chegado para negociar a flor das cabildas, um sultão de Ceuta, um grande rei embaixador, uma entidade da riqueza e da elegância. Mas não, era Nego Leléu ensaiando sua cara de inocente e relembrando as graças que faria como se esperava dele, porque ia a negócios e o bom negociante deve sempre fazer o que se espera dele. As graças não podiam variar, porque os meninos pediam sempre as mesmas, impacientavam-se se ele não as repetia uma por uma. A graça da bochecha de abóbora: agachado como um macaco, as mãos quase se arrastando pelo chão, incha as bochechas a um tamanho impossível, esbugalha os olhos, sacode a cabeça e então solta o ar devagar, as bochechas tatalando como um pano na ventania. A graça da risada: começa a contar uma história em fala arrevezada e de repente sofre um ataque frenético de riso — gargalhando e tossindo e batendo no peito e quase tendo convulsões —, tenta voltar à história, diz mais quatro palavras ininteligíveis, torna a rir até rolar na terra, coberto de suor e lágrimas. A graça do velho africano bem velhote: pega um bordão, veste uns farrapos, encolhe os beiços sobre os dentes para fingir que é banguela e chega quase sem poder andar, falando língua de africano inventada, dançando uma dança trôpega em que parece ir cair a todo instante, mas antes de tocar no chão ricocheteia em alguma coisa invisível e volta à vertical como se fosse de elástico. E muitas outras graças, cantigas e estripulias pela casa toda, até mesmo as ousadias que tomava quando sentia que podia, chamando o barão de tio, a baronesa de tia, as crianças de primos e Amleto de parente pelo lado preto da família, ho-ho-ho-ho! E fazer cavalinho-cavalão, pocotó-pocotó, tomar
esporadas do menino Vasco Miguel, carregar a menina pequena na cacunda, assoviar em apitos de taboca, responder dezenas de vezes às mesmas perguntas? Mas é trabalho! Tudo neste mundo se consegue com trabalho e quem é preto consegue menos com muito mais trabalho, então tem de trabalhar multiplicado e trabalhar em todos os trabalhos e trabalhar o tempo todo e trabalhar sem distrair e sempre acreditar que alguém quer tomar o resultado do trabalho. Se Nego Leléu trabalha? Mas como trabalha o Nego Leléu! Nego Leléu ficou forro por testamento de um português de Salinas da Margarida, não quiseram libertar, olhavam para o papel e liam mentiras que não estavam escritas nele. Nego Leléu estava aí nem ia chegando? Podem crer! Disse que não queria sair da fazenda, era amigo e servidor de Iaiá Iaiazinha por vocação de vida e, se o libertassem, ali mesmo ele ficava — ir para onde, meu Bom Jesus? Ganhou carta de alforria na festa de Natal, ganhou também uma leira, plantou muita verdura graúda estrumada bem estrumada, aquilo chegava a estufar e algumas rebrilhar, fez barraca no mercado, fez quitanda, vendeu e revendeu, entabolou muitíssimos negócios em todas aquelas partes, em Salinas, em Cachoeira, em Maragogipe, em Vera Cruz, na Ponta das Baleias, em Nazaré das Farinhas, comprou jegue, comprou carroça, emprestou dinheiro a prêmio, enterrou uma caixa de patacões num lugar marcado que só ele sabia. Iaiazinha morreu, acharam que a leira era demais para ele, tomaram a terrinha de volta Nego Leléu se abateu? Nunquita! Tinha juntado dinheiro, tinha arranjado mulher preta e mulata para muitos, tinha feito favores, sabia de segredos, dera presentes. E se formou oficial alfaiate, é o que estou lhe dizendo! Oficial alfaiate, tesoura certeira, agulha mestra, alinhavo sem erro! E quantos libertos sem ter para onde ir, quantos e quantas sem eira nem beira, lixo mesmo, gente jogada fora, ele tinha recebido, dado abrigo e alimento, e agora trabalhavam para ele? Se não querem trabalhar, paciência, todo mundo trabalha, então voltem para onde estavam. E não foi assim que ficou dono da loja que faz fardamentos para os funcionários da Província, os negros cortando, as negras costurando, todos gordinhos, bem nutridinhos, pergunte a qualquer um deles se quer sair dali e cair na vida. Quem quiser que trabalhe, é assim que se vence. Aprendeu a ler e contar, meu amigo, que é que está pensando? Aprendeu todo o bê-á-bá em quatro ou cinco dias, dormiu com a professora, que era parda e velha e quase não ouvia, se amasiou com ela, conquistou casa, comida e roupa lavada, sempre respeitou a velha, nunca fez canalhice com ela, dava-lhe bom serviço de marido três vezes por semana senão mais, botou mais pretas na casa, botou rendeira de bilro, mandou fazer doce e costura e bordado para fora, comprou barco, botou casa de peixe, açambarcou o que pôde, enterrou mais dinheiro escondido no quintal. A velha morreu, ele envergou luto fechado, andou em nojo mais do que mandam os preceitos, mandou rezar missa, fez nicho no cemitério, chorou muito quase uma vez por dia durante um ano inteiro, fechou a escola, abriu a tenda de algibebe, pôs as negras e negros para trabalhar nela, todos com boa comida, direito a sobras de pano, folga domingo sim domingo não, e a ir embora se quisessem. Ficou amigo do coronel que compra os fardamentos baratinho na mão dele para vender bem carinho aos intendentes e dividir com ele mais ou menos, arranjou mulher dama para o coronel, arranjou lugar de fornicar. Botou casa de puta, botou caftina, instalou tudo, trata bem as meninas, quase não bate. Se compra escravos? Sai muito caro. E onde já se viu preto dono de cativo, ainda mais preto pobre, preto humilde, sempre precisando da ajuda dos brancos, sempre necessitando dessa ajuda — esta roupa mesmo se fez por si mesma, com jeitinho, das sobras dos panos dos
brancos protetores —, graças a Deus e Nossa Senhora que tem gente no mundo como meu tio, minha tia, minha madrinha, bênção. E sai muito caro, tudo sai muito caro, quanto preto e pardo de graça temos por aí, que não encontram nem onde cair mortos, não sabe? E não é por isso que, sempre na procura de um adjutório ou outro, uma mão aqui outra acolá, Nego Leléu, com uma cara de beato que só vendo para crer, vai chegando à Armação do Bom Jesus? Não é porque sabe que a senhora dona baronesa deve outra vez alforriar de promessa um escravo e será que esse escravo não é boa mão de obra e não vai querer vir com Leléu? Claro que é. Uns ele conhece, que podem ser agraciados: a negra Esmeralda, ainda boa para os muitos que preferem as gordas, também boa para quituteira; a negra Constantina, velha mas rija, cozinheira da pontinha da orelha esquerda; o negro Lírio, marceneiro forte; o negro Feliciano, de língua cortada, bom para tomar conta da casa de mulheres e outros serviços de responsabilidade; a negra Martina, cintura fina, rabo redondo, peito pequeno — qualquer um paga; Nego Frito, assim chamado por uma certa feita lhe ter caído um tacho de azeite de baleia quente pelas costas, bom mestre de embarcação e pesca, apesar de não poder mexer um braço devido à cicatriz; a negra Inácia, toda grande, pé grande, boca grande, quartos grandes, para o serviço de toda a casa, também para quem gosta de pretas graúdas; a negra Benta, costureira, bordadeira e fiadeira. E por aí vamos, pois não? Mesmo que Nego Leléu não leve ninguém com ele, as amizades boas a pessoa precisa cultivar, é necessário aparecer de vez em quando, oferecer os préstimos, elogiar, admirar bastante, agradecer o feito e o não feito, o dado e o não dado — é tudo trabalho! E não foi trabalho decorar mais rezas, cantos e responsos do bom Santo Antônio para puxar nas trezenas e novenas e as orações de amarrar marido para ensinar às meninas moças e todas as adivinhações com seus versos? Está se vendo que foi, ora se não foi. Mesmo porque — como pensa agora o Nego Leléu, limpando a areia dos pés antes de enfiar os sapatos e subir para gritar ô-de-casa lá em cima — ele não acredita nem em santo nem em nada, só acredita em trabalho, quem quiser que fique de boca aberta para o céu, esperando o santo. O urubu — psssst — vem e caga na boca dele lá do alto, a vida não é assim não. Pigarreando, compondo o rosto, enxugando o suor da testa, ajeitando a roupa e respirando fundo, Nego Leléu, já virado em outra pessoa, abriu a boca numa gaitada rouca e começou a sarabandear trilha acima. Mô Santo Ontonho quirido, eu vós peço por quem sois, dai-me o premero marido, que o outro eu ranjo dispois! — cantou ele, redobrando os pulos e olhando para ver se alguém já o estava apreciando da varanda da casa-grande.
5
Armação do Bom Jesus, 12 de junho de 1827.
As baleias, das grandes e das pequenas, de qualquer das muitas famílias e raças que todo ano aqui passeiam e são caçadas, não casam como os outros peixes. Os outros peixes, pelo pouco que se vê de seu amor, numa boca de rio parada, numa loca, num viveiro, numa poça dos recifes, se espadanam pela água, muitos dançam, uns poucos arrastam as fêmeas para os cantos, mas não se tocam, não se conhecem, têm filhos como grãos de areia, que às vezes comem com indiferença. Mas não o peixe baleia, que quando se enamora primeiro canta e assovia, subindo e descendo as ondas como se quisesse encapelar o mar sozinho. E também se lamenta no meio das canções, ouvindo-se cada hora seus gemidos de paixão, a música de toda noite nesta época do ano. Assim do alto e de longe, vê-se chispando pela flor-d’água uma baleia, mas depois vê-se que são duas. É que vão tão juntas e harmonizadas que parecem um só bicho, até que o macho, por nervosismo e necessidade de mostrar proeza, desencosta a cabeça que trazia junto à dela, rabana com estrondo, irrompe das águas e voa, formando uma lagoa alada em torno do corpo, que então singra os ares um instante, serpenteia esticando o salto e, levantando um vagalhão estrepitoso, cai junto a ela na mesma posição em que antes nadavam e continuam a nadar, espelhando o sol nos couros azulados. Como, nos dias mais frios, seus esguichos se aglutinam em gotinhas vaporosas que viram rodas de arco-íris contra a luz, acha o povo que as baleias noivas constroem assim suas grinaldas e anunciam às outras o casamento. E de repente cantam ele e ela juntos, cabriolam na espuma, escabujam de barriga para cima, rolam, desaparecem, emergem outra vez e outra vez desaparecem, disparam rolando e se abraçando, afundam e, lá no fundo, já se querem tanto que não se contêm. Revirada perto dele, ela se queda admirada diante da grande pilastra colorida que se apresenta como um mastro festeiro das dobras da barriga dele, suas próprias dobras se entreabrem em vermelhos, roxos, brancos e violetas latejantes e é assim que, um maremoto agitando as ondas, uma corcova subindo no meio da baía, uma crista de água fibrilando velozmente, eles prorrompem do fojo do mar desta vez juntos, colados e enlaçados cara a cara, suas músicas transfiguradas em guinchos e risos, as grinaldas vibrando com as novas gotas. E nessa festa, quando não vêm as lanchas baleeiras persegui-los, ficam às vezes dias inteiros, navegando por todos os pontos da grande costa da ilha, como já tantas vezes Vevé tinha testemunhado com alegria e curiosidade e depois sonhado que Custódio e ela eram dois peixes gigantes, fazendo a corte no oceano. E bem que podiam ter sido como esses peixes, brincando nus nos rasos das coroas, amando-se dentro e fora d’água em liberdade, tecendo também suas guirlandas, nas noites em que a maré fica mais fosforescente e toda ela que se esparrame cai como luz em calda. E bem que, ao ver as baleias namorando ou ao olhar Custódio, alto e musculoso, as pernas grossas desenhadas por baixo dos calções molhados, o traseiro empinado e esculturado, todos os volumes curvos que conhecia e não conhecia, ela
sentira a carne tiritar como a pele de um cavalo que espanta moscas, e pensara muito, às vezes a noite toda revirando-se na esteira, em escapulir até ele, surpreendê-lo dormindo e fazer com ele coisas — que coisas não sabia bem, mas sabia que queria passar-lhe a mão na pele e não sobre a roupa, que queria descobri-lo e revelá-lo e que, quando estava assim devaneando, desejava que ele não acordasse logo à sua chegada; não queria que fosse uma estátua, queria-o quente e vivo, queria ver se a pele se arrepiava ao tocá-la com a ponta dos dedos, mas não queria que se acordasse de pronto; preferia desfrutar dele um pouco, assim tão desvalido e todo belo como uma criança, poder olhá-lo e celebrar só consigo mesma aquela proximidade tépida que lhe alterava as pulsações e, quando ele acordasse, já a encontraria acalmada e quieta, sabendo-se úmida entre as pernas, abrindo-as para que ele entrasse com a suavidade com que entraria, com a força delicada e amante com que entraria, com a vontade de ir ao céu que lhes viria, tão misturados quanto os grandes peixes que também se lançam juntos ao espaço. Ai, sim, pensou ela, o rosto em brasa e o meio das pernas não molhado, mas seco, ardido e estraçalhado, não razão de orgulho e contentamento, mas de vergonha, nojo e desespero — e nada, nada, nada, que havia no mundo senão nada, nada, nada, e os engulhos que lhe contraíam a barriga trazendo até a garganta o estômago envolto em cãibras e o ódio que lhe fazia crepitar a cabeça com uma dor cegante e a certeza de que nada, nada, nada jamais a limparia, nem água, nem sangue, nem uma lixa que esfregasse em todo o corpo, nada, nada, nada! Que era ela? Aquilo, somente aquilo, aquele fardo, aquela trouxa, aquele pano de chão, aquele monte de lixo e nada, pois não conseguia ao menos chorar, embora quisesse muito. E também não podia mexer-se nem fazer qualquer som, como se o pescoço que o barão de Pirapuama havia apertado com uma só mão houvesse ficado para sempre hirto e congelado, mal deixando que passasse o ar, ela paralisada, muda, um peixe morto, endurecido. Que fazer agora? Levantar-se, consertar o corpo ainda retorcido na mesma posição em que tinha ficado quando ele a empurrara e se limpara nos trapos em que transformara sua bata branca, numa das muitas posições em que ele a tinha virado e revirado com brutalidade e a exposto como um frango sendo depenado? Passar a mão no rosto inchado por todas as bofetadas e sopapos que ele lhe dera, enxugar o sangue que lhe escorria das gengivas misturado com saliva, endireitar até mesmo a boca, que sabia flácida e pendida — nunca mais a mesma boca, nunca mais nada, nada, nada! —, fazer alguma coisa? Nada a fazer, nada a ser, e notou que nem mesmo conseguia ouvir som algum, nem folhas no vento, nem barulhos de bichos, nem vozes de gente, nada. Mexer os olhos, porém, podia e então viu a porta que ele não fechara atrás de si quando saiu, as estampas de santos nas paredes, a canastra do feitor Almério com um pedaço de pano encardido saindo por baixo da tampa mal fechada, o escaparate com copinhos de vidro coloridos e bibelôs nas vitrinas, a janela metade de abrir para os lados e metade de básculo, as linhas que a luz do sol fazia pelo meio das frestas, a poeira fina que boiava quase faceira nesses fachinhos de claridade pelo chão de laje, o cheiro de óleo de coco fresco entrando pela porta como um vapor amarelado, a cama de colchão de palha desalinhada e convulsa, o jarro de pedra ouriçado de talos secos de sorrisos-de-maria ao pé da imagem de Nossa Senhora do Amparo, o gomil esmaltado dentro da bacia branca de borda azul, uma vela de pavio preto saindo de um bolo de sebo petrificado no peitoril da janela, uma moringa ornada de arabescos em baixo-relevo pintado, um gancho com seu fifó quase despencado e um
besourinho verde afogado no azeite do pé da mecha, a telha de vidro lá em cima quase toda coberta de pó e folhas secas, a chibata de couro manchado caída no chão, o urinol onde o barão havia mijado de pé e virado para ela antes de sair, o cabide de madeira polida com dois chapéus enfiados, tudo imóvel demais, pesado demais, silencioso demais. Tudo muito indiferente, como o mundo que agora não tinha certeza de que existia, pelo menos da forma que existia antes, ou talvez nunca tivesse existido. Durante um tempo tão breve que, logo depois de vir, ela já o recordava como passado, ocorreu-lhe um pensamento, o pensamento de ser isso tudo um pesadelo, parecido com um dos muitos que tivera antes, um desses pesadelos de que se acorda suado e ansioso e se agradece aos céus por haver sido somente um sonho. Mexer-se, procurar outra vez andar e movimentar-se? Para quê, como, o quê? E muito lentamente se deu conta de que estava passando os dedos sobre a boca, a outra mão subindo e agarrando o cabelo desgrenhado contra o pescoço, os joelhos se dobrando na direção um do outro, e ouviu os sons que faziam seus movimentos em cima da cama. Voltaram todos os sons e a palha do colchão quase fez um estrondo, quando as pernas dela se agitaram, as náuseas de novo lhe contraíram o estômago, o cheiro enjoativo da palha meio podre e bolorenta engolfou o quarto, ela crispou todo o corpo e, os braços esticados, as costas retesadas, a cabeça tremendo sem poder parar, vomitou, soltou as tripas e a bexiga e, sentada no meio de tudo isso que saíra dela e mais ela quisera que saísse e não ser nada, nada, nada, finalmente chorou. Chorou muito tempo na mesma posição, chorou por muitas razões, às vezes todas juntas, às vezes cada uma por seu turno, teve raiva de sentir pena de si mesma, principalmente teve raiva por sentir vergonha, por que haveria de sentir vergonha, quando não tinha feito nada? Mas tinha cada vez mais vergonha e ódio por essa vergonha que sabia que não podia ser dela, mas era, mas era, era, era, era! Pois ele também lhe passara a vergonha que devia ser dele mas nele era triunfo, saíra do quarto pavoneado e de cabeça erguida, haveria até entre os negros quem risse ou debochasse quando soubesse de tudo, e lhe vinha tanta mais vergonha que quase não podia suportar pensar. Suja, muito suja, suja de todas as maneiras, doída, tão doída, ela abraçou a si mesma, sozinha, tão sozinha, sozinha tão sem remédio, e ficou dormente. De início, a pele formigou, os poros se eriçaram, ela achou que ia sentir comichão pelo corpo todo e aí desfalecer, mas apenas ficou dormente. E, sem pensar nem bem perceber o que fazia, levantou-se, começou a arrumar o quarto, juntou o lençol e a coberta numa trouxa, ajeitou o colchão no estrado, rasgou a barra da saia para limpar-se, fechou a trouxa, segurou-a com uma mão e com a outra tapou o buraco da bata por onde estava saindo um peito, olhou em redor e saiu, empurrando a porta com o ombro. No fim do corredor, entrando de botas, esporas e gibão de couro, o feitor Almério apareceu como uma sombra contra a luz. Parou, caminhou na direção dela, que, com os olhos baixos, acompanhava o tinir e o rebrilho das esporas. Almério chegou, estacou em sua frente. — Ele já se despachou? — perguntou, um meio sorriso lhe entortando o bigode. Ela não respondeu, procurou desviar-se para passar, mas o feitor segurou-a pela gola. — Deixa de ser uma negrinha desassuntada. Ele já se despachou? — Eu vou levando as roupas de cama do senhor para lavar, vou lavar, vou passar, depois eu trago. Ele não a soltou, mas apertou a mão na gola da bata e começou a conversar como se
estivesse caricaturando um tom paternal, os olhos fixos nos dela. — Olhe, eu sempre disse a todos os negros, todas as negrinhas como tu, que a única coisa a aprender é a obediência. Gosto muito de todos, trato bem, mas a obediência acima de tudo. Já me ouviste dizer isto, não ouviste? Porque ela permaneceu silenciosa e quis baixar a cabeça, ele apertou-lhe o queixo e o puxou para cima. — Então? Já me ouviste dizer isto, não ouviste? — Ouvi. — Isto, isto! Então? Ele já se despachou? Então? Já? Ele já se despachou? — Já. — Ah, muito bem. E correu tudo bem? Anda, responde! Correu tudo bem? — Correu. Ele a olhou de cima a baixo, deteve-se nos rasgões da roupa, examinou os inchaços do rosto. — Ah, bem — disse finalmente. — É isto mesmo, estas coisas são mesmo assim, não é nada de chorar. Não há nada aqui que umas duas compressas não curem — acrescentou, saindo da frente e dando um tapinha no traseiro dela.
Dia lavadíssimo, esta terça-feira, véspera de Santo Antônio, em que Perilo Ambrósio estuprou a negra Daê, mais chamada por Venância. Lavado mesmo, porque choveu até de manhãzinha, chuva grossa, chuvarada como os aguaceiros de verão, nada dessas brueguinhas regelantes que nunca vão embora e ficam ensopando os ossos das criaturas durante os meses de junho e julho, muitas vezes passando por agosto, quantas e quantas vezes entrando mais ou menos por setembro, vindo as primeiras águas desde abril, chuvas mil. E esta ilha, já diziam os antigos, é verdadeiramente o bispote do céu, por assim falar, um ponto que as nuvens escolhem para arrebanhar-se antes de seguir viagem. Desde segunda-feira pelas onze da noite que bateu uma pancada, bateu outra, bateu mais outra, chuva mesmo, das que fazem aluviões, das que levantam um cheiro de terra molhada tão safado que muita gente fica perturbada, os comedores de barro não se aguentando e metendo os dentes até em telhas e cacos de moringa molhados. Logo depois o tempo clareia de repente, o céu aparece com um azul muito levinho, o sol vai esquentando sem ficar tão quente como em fevereiro e o dia nasce desse jeito lavado que todo mundo conhece, a terra e a areia assentadas, as folhas com lustro, o ar limpíssimo, muitas novidades em cada canto, grande movimentação de bichos e uma certa alegria despropositada, uma certa crença em que, lavado assim, luminoso assim, o universo não é indiferente, mas propício. Uma certa cara para cima, um certo nariz para o alto, um certo queixo confiante — coisas sutis, mas que se notam com facilidade, por exemplo, na fisionomia da baronesa, mandando sentar diante de si, em dois bancos do alpendre da casa-grande, um grupo de pretos um tanto nervoso, para ouvi-la falar a respeito da promessa a seu sagrado padrinho Santo Antônio. Trouxeram a cadeirinha de almofadas de veludo, trouxeram o sólio de gonçalo-alves com sua estatura majestática, seus dois degraus e seu encosto encimado por um leão em talha fina, trouxeram a otomana francesa, mas ela quis permanecer de pé, pois, além dos gestos frondosos com que marcava as palavras, precisava andar para fazer pausas e meias-voltas
expressivas. Tinha posto as joias — não muitas, somente algumas, porque sabia como deve aparecer uma baronesa a seus negros, embora não houvesse podido resistir ao diadema, afinal pecinha tão modesta e que cabia tão bem no toucado de uma nobre, para esses negros uma princesa, uma rainha, por que não? —, tinha derramado um frasquinho de perfume por baixo do decote, tinha trazido o xale de bretanha bordado de festões a ouro e prata, tinha ordenado que pusessem ali a mesinha com o tinteiro de marfim e a pena de ouro imitando uma de ganso, tinha mandado dizer às crianças que parassem de tocar a caixa de música — já que o barão só comprara tambores de música frívola e não se escuta música frívola na véspera de Santo Antônio —, tinha permanecido longo tempo em silêncio à frente de seu auditório de negros e negras com as duas mãos postas junto à boca como se rezasse, tinha atravessado o alpendre nessa postura várias vezes. A negra Esmeralda, toda de branco e cheirando a goma de engomar fresca, acompanhava a baronesa com fascinação, arregalando os olhos e fazendo gestos de aprovação a todo instante. Nego Frito, com o tronco um pouco torto por causa da cicatriz, não conseguia parar de mastigar as gengivas e, muito aflito, olhava para os lados temendo que o censurassem. Nego Lírio se sentara com os braços cruzados em torno da bengala, os fios brancos da barba de três dias parecendo falsos, em sua cara lisa. A negra Inácia trouxera o rosário, fingia que rezava mexendo os lábios em silêncio e dedilhando as contas nas mãos tão grandes quanto a cara de Nego Jeba, que, tremendo um pouco, encostara nela como se quisesse abrigar-se. Nego Leléu, o chapéu apertado com apuro contra a barriga, não se sentou com os outros, mas ficou junto a uma das pilastras, perto do último degrau da escada, a mão em cima do jarrão de pedra mas com cuidado para não se apoiar em nada, porque a baronesa remocava severamente quem quer que estivesse de pé e se derreasse contra qualquer objeto, era coisa da indolência nata, que ela não admitia e afirmava que lhe causava forte vergonha. Ele não tinha de sentar com os outros, não era negro da casa, era homem liberto e documentado, estava ali como amigo da família, para apreciar e dar com a cabeça quando a baronesa o olhasse depois de alguma frase, pois já tinha assistido a duas ou três dessas solenidades e tinha segurança sobre como agir, até mesmo quanto à expressão a fazer — cenho franzido, olhos no infinito, boca curvada para baixo, uma mudança de pé de apoio de quando em vez —, que aprendera observando como os brancos escutavam discursos importantes. E, enquanto esperava que a baronesa começasse a falar, aproveitou para avaliar os negros presentes, desgostou-se um pouco, achou-os em pequena quantidade, somente alguns valendo a pena — Nego Jeba mesmo ele não queria, nem pago. Na otomana, por trás da mesinha, tornozelos cruzados sob a vasta cogula, frei Hilário começou a abanar as pernas e olhou para Teolina, que, muito composta e de olhos baixos, estava sentada na outra extremidade. A baronesa separou as mãos, esticou a cabeça para a frente como quem acaba de concluir algum pensamento, caminhou até a mesinha, bateu nela compassadamente, inspecionou o grupo. — Todos os da senzala pequena estão aqui, conforme ordenei? — perguntou, sorrindo somente com a boca. O grupo se mexeu, Nego Leléu mudou de pé. A baronesa olhou para Teolina e suspirou. — Por que, minha cara amiga, a cada pergunta que fazemos a esta gente, cada pergunta que não seja dos deveres da cozinha e da economia, das tarefas simples que mal cumprem,
sempre nos vem confrontar este... este mexer-se e revolver-se como se tivessem as línguas presas? Acaso meto-lhes medo? Ah, bem poucos sabem o que neste mundo verdadeiramente mete medo, bem poucos sabem! Mas já se viu coisa como esta? Parecem todos os cachorrinhos que partiram a louça! — Estão aqui todos os da senzala pequena, contei-os — disse Teolina. — Somente não está uma, Venância. Disseram-me que passa muito mal. — Passa mal? Há de estar passando muito mal mesmo, para não atender ao chamado da sua senhora! Os pretos se mexeram outra vez, Nego Jeba quase se aconchegou a Inácia. A baronesa rodopiou, estendeu o braço na direção dele. — Tu! — falou com autoridade. — Tu, diz-me lá que mal é este que tem a negrinha Venância. — Hum! — fez Nego Jeba, esticando muito os lábios para a frente, quase como se fosse chorar. — Hum! — Anda, diz-me, não tens a língua cortada, pois? Nego Jeba olhou para Feliciano, pareceu ficar ainda menor do que já era. — Não, Iaiá, não senhora, Iaiá. — Então? — Eu não sei direito, foi um mal que veio a ela. Um mal, assim. A baronesa buscou uma opinião geral com o olhar. — Sim, mas que mal é esse? — Foi um grande mal que veio a ela — esclareceu Esmeralda. — Um grande mal. Posso dizer? A baronesa suspirou mais uma vez. — Então eu digo. Eu acho que é... acho que ela está com a moléstia. Os outros negros ficaram inquietos, a baronesa achou que havia ruborizado, Teolina baixou o rosto novamente. — Mas... — fez a baronesa, um pouco desconcertada. — Minha madrinha, dai-me licença? — perguntou Nego Leléu, segurando o chapéu com ambas as mãos e dando uma espécie de meio passo à frente. — Ela não está assim como disse Esmeralda. Eu vi, ela está doente, está com cólica, morragia, foi um mal que veio, porém vai. Tomou chá, fez banho de erva de zunzo, fez compressa, a febre quase-quase que já foi, só está com tonturas. — Conheço essas tonturas — ironizou a baronesa. — Esta gente não tem jeito. Bem, pior para ela. Já que não está aqui, perde a ocasião de elevar-se um pouco e, com toda a certeza, perde a ocasião de ser contemplada, pois ainda não resolvi nada e, não fora uma promessa ato sagrado e inviolável, já de muito havia desistido de tal ideia, que só me tem valido aborrecimentos e dores de cabeça. Muito bem, mas já era hora de resolver aquela questão que sua piedade e amor às boas obras lhe impuseram, por penosa que fosse. Que faces tão broncas, meu Deus do céu, que feições tão feias, ali sentados como guaribas num galho de árvore. A baronesa deixou ver como estava sendo resignada, matutou um tempinho e principiou uma caminhada de ida e volta
defronte do grupo. Quem aí sabe dizer quais são as três pessoas da Santíssima Trindade? Vamos, isto mesmo ouvi a senhora dona Teolina ensinar a todos repetidas vezes, lendo do devocionário com toda a clareza, são três as Pessoas, é coisa muito simples. Tu, Inácia, que estás a rezar com tanto fervor, sabes responder-me? A Virgem Maria? A Virgem Santa Mãe de Deus, Pessoa da Santíssima Trindade? Mas onde estamos, clama aos céus tanta ignorância, tanta cabeça dura! E tanta preguiça! Pois não está acima da compreensão até mesmo de negros e bugres a grande verdade da Santa Madre Igreja! Pois não sabe a resposta o negro Leovigildo, ali presente? — Padre, Filho e Esprito Santo — disse Leléu e persignou-se com os olhos revirados para cima. Padre, Filho e Espírito Santo! A baronesa apertou as mãos no regaço, implorou em silêncio resignação e paciência aos santos. Todos os negros haviam sido banhados na sagrada água lustral como era da tradição da casa, mas não passavam de animais batizados? Como celebrar hoje o ofício da vigília, receber a bênção invocativa de todos os anos, praticar liturgias tão veneráveis e elevadas com a participação de povo tão desaprendido? Que vergonha a faziam passar, que vergonha lhe davam! Muito bem, que é o batismo, que é o santo sacramento do batismo? É só a água benta, só os santos óleos? Mas é claro que é o sal também, mas é claro que a pergunta não é essa! Que é o batismo, há que explicar-se tudo a cada triquete, tudo mais uma vez e outra e outra, até o dia do Juízo Universal? Que é o pecado original? Que é confissão? Crisma, pão celeste, eucaristia? Excomunhão? Nada, nada, nada? Quem sabe ao menos as palavras da Ave-maria? Frei Hilário, bondoso e esclarecido servo de Deus, como iluminar a escuridão destas almas quase perdidas pela ignorância e pela falta de entendimento? Como praticar a caridade sem que o que a recebe possa exaltar a infinita bondade de Deus? Não desaprovariam tal conduta os santos doutores da Igreja? Frei Hilário levantou-se e permaneceu algum tempo de cabeça baixa, sem falar, a claridade reluzindo no cercilho. Teolina, fazendo um sinal aos negros para que a imitassem, levantou-se também, abraçou o diurnal de fitinhas azuis, esperou que o frade começasse a falar para benzer-se pausadamente. O frade disse que tinha razão a senhora baronesa em desejar esclarecer as mentes daquele povo simples, mas que havia um limite para tudo neste mundo, até mesmo para a força e o alcance das boas obras. Cabia, pois, ao bom cristão, suportar resignado o fardo que lhe impunha o trato com aquela gente de raça inculta e tão tênue humanidade. Não, senhora baronesa de Pirapuama, não haveriam os santos doutores de discordar, antes compreenderiam vosso desânimo, vosso desencanto e vosso desgosto, mais ainda realçando-vos os méritos que a modéstia faz por ocultar, mas a fama divulga por todas estas terras. E a eles, ali presentes, que voltassem o pensamento para o Senhor. Que procurassem ver, em são exame de consciência, se seus pecados e faltas não os tornavam pouco dignos da graça que lhes vinha pela mão benemerente da senhora baronesa. Narrarlhes-ia outra vez a fábula do Santo Negrinho — e o Senhor Bom Deus, o Bom Jesus, também podia fazer, de negros, santos, nada para Ele era impossível—, o escravo de levantinos cristãos que muitas vezes recusou a graça da alforria que lhe dava seu senhor, porque não acreditava fazer jus a ela. Que se mirassem nesse exemplo, que vissem o esforço e dedicação de sua senhora, agora disposta a libertar um deles, embora a isso não tivessem direito, até mesmo pela pouca devoção que demonstravam.
Em tantas lágrimas se enevoaram os olhos da baronesa e de Teolina, as imagens evocadas pela voz apaixonada do frade entontecendo-as e transportando-as a tão longínquas alturas, que nenhuma delas percebeu o negrinho Nicodemo puxar Nego Leléu pela manga e cochichar-lhe um recado do barão. Leléu ainda ficou meio assim — e se a senhora dona baronesa não gostasse? Mas Nicodemo, em vez de insistir, deu de ombros, fez um beiço e começou a voltar por onde havia chegado. Negrinho cafunje safado descarado, isto queria dizer que, se Leléu não fosse logo, ia ter, ah se ia! Desceu a escada correndo atrás de Nicodemo, puxou-o pelos fundilhos. Que tinha o senhor barão, que o chamara assim correndo? Ah, Nicodemo não sabia nem queria saber, só sabia do recado. Leléu deu-lhe um par de chulipas, levantou a mão para bater-lhe na cara. Nicodemo quis libertar-se, agitou-se, Leléu passou-lhe outro pontapé no traseiro. Não te meta a besta, diz-me lá! Bom, de fato hoje o barão estava um pouco desapoderado, um pouco assoberbado, não parava quieto, enfiava a mão no cabelo, fazia batuque na mobília e nas pernas, mordia os dedos, uma coisa por demais mesmo. E então perguntara: Nego Leléu chegou aí? E, quando lhe disseram que chegou, deu um psiu para ele, Nicodemo, que estava pelo caminho, carregando um caçoá na cabeça com dois cachos de dendê, cada cacho assim, aquilo num peso que chega vinha ele afundando naquele barro mole da chuva, não sabe, deu um psiu e disse: larga esta merda aí, deita no chão, anda! E ordenou: me arrodeie por trás da casa, me vá na varanda da cozinha, me busque o Nego Leléu, diz àquele negro caramboleiro que quero falar com ele, chama aquele negro ordinário, que eu estou mandando. Leléu franziu a testa, deu um tapa meio fraco na cabeça do negrinho só porque ele repetiu as palavras do barão com gosto demais, soltou-o num empurrão. Mas então que era aquilo? Então o barão estava assoberbado, estava com os nervos? Leléu quase parou, deu dois ou três passos muito devagar e abriu um sorriso cauteloso. Ora, então, mas é claro, é mais que claro, é um clarume só! A negra Daê, a negra Venância, neta de Dadinha, que hoje estava arriada na senzala grande, meio morta, meio sangrando, meio tremendo toda, porque sinhozinho barão Perilo Ambrósio foi lá! Essa negra que não estava na varanda, estava tomando compressa e tendo ataques de diversos tipos, de choro, de sezão, de tremedeira, mas isso passa, isso passa! Leléu recomeçou a andar depressa, segurou o pé para não pular, passou a mão na boca para apagar o sorriso, bateu asas como um galo e marchou para a entrada do gabinete do barão. — Você viu a negra? — perguntou o barão, assim que ele entrou e mal tivera tempo de tirar o chapelão. — A negra Vevé, Ioiô, a que era da senzala pequena e hoje está na senzala grande? — Pois de que outra desgraça de outra negra estarei eu a falar, senão dessa? Sabes bem o que sucedeu, não me venhas com as tuas palhaçadas, não tenho paciência. Diz-me lá, a senhora baronesa já escolheu o alforriado? — Não, Ioiô. Frei padre Hilário está falando, ainda nem fez as rezas. — Levas essa negra contigo, pois? — Mas Iaiá baronesa disse... — Não te perguntei o que disse a senhora baronesa, perguntei-te se levas essa negra contigo. — Levo, levo, levo, levo logo!
— Do resto, cuido eu. Anda, corre lá, chama-me Almério, diz-lhe que avie-se. E quando Antônia Vitória, como já se esperava, barafustou pelo gabinete adentro quase na hora do almoço, as mãos torcidas de angústia, o nariz vermelho, os olhos inchados e a voz pontuada de soluços, com Teolina dois passos atrás abraçada ao diurnal, Perilo Ambrósio, tudo acertado, resolveu que desta vez não queria escutar a litania de todos os anos. Achou que conseguiria conter a vontade de blaterar, que consentiria em explicar um pouco suas razões, mas também não teria paciência para mais nada. Antônia Vitória começou sua lamentação — “sei que me dirão vir da fraqueza e da indecisão próprias das filhas de Eva, esta...” — mas ele levantou a mão, com tanta calma quanto podia reunir, para que ela se calasse e ouvisse o que ele tinha a dizer-lhe. Sabia muito bem dos cuidados e preocupações que lhe dava a prática de tanta caridade, do sofrimento que lhe advinha por ter de escolher, entre negros tão pouco dignos de qualquer atenção, algum para agraciar com a liberdade, sem que disso viesse a ter mais embaraço do que contentamento pela boa ação. E, portanto, fizera por ela a escolha, ditada em parte, reconhecia, por imperativos práticos: não estavam boas as finanças de seus estabelecimentos, os tempos eram difíceis. Assim, não via mal, nem contradição com a promessa feita ao santo padrinho dela, em que se desse a tal alforria a uma negra moça porém fraca, já sofrendo de febres, vômitos e fraquezas, que poderia mesmo, nunca se sabia, passar sua enfermidade para os outros negros, causando prejuízo incalculável. Que se tranquilizasse, que voltasse aos assuntos da casa, hoje tão azafamantes, que não mais chorasse nem se entristecesse, pois que já resolvera tudo para ela. Libertaria a negra Venância, o negro Leovigildo a levaria para conseguir-lhe ocupação e morada, isto mesmo acertaria com ele, dar-lhe-ia algum dinheiro para ajudar, estava tudo certo e providenciado, e esperava que hoje a mal-assada não viesse tão mal preparada quanto nos outros almoços. Antônia Vitória não respondeu, embora tivesse chegado a abrir a boca brevemente. Pareceu que ia andar em direção a ele mas desistiu antes de dar o primeiro passo, esboçou um sorriso ainda meio choroso, fez uma espécie de mesura antiga, a mão direita puxando a saia para erguer-lhe um pouco a barra, levantou a cabeça com um orgulho sem convicção e saiu, talvez um pouco devagar demais. Perilo Ambrósio, bem à frente da porta do corredor, acompanhou as duas mulheres com a vista. Tudo bem mais fácil do que tinha pensado, bastou um pouco de firmeza. Foi até a outra porta, deu dois passos para fora, observou com agrado como fazia dia tão limpo, tão claro, tão lavado, e como um dia assim traz às pessoas uma grande sensação de paz.
Capoeira do Tuntum, 14 de junho de 1827.
Alguém que não soubesse, alguém de fora, podia pensar que eram os mesmos. Mas não eram. E não por causa da luz desmaiada das lumeeiras criando sombras incertas nos rostos e nas moitas, não por causa da noite carregada de visagens que os cercava, não por causa das roupas. Pelo contrário, as roupas é que eram as mesmas que tinham envergado na festa de Santo Antônio, para mostrar bailes dos pretos às visitas e a todo o povo que acorria das
vizinhanças. De outros lugares também vieram, a fim de tomar parte nas danças e combates fingidos, pretos de nomeada em todo o Recôncavo e em muitas outras partes da Bahia por onde passaram ou se ouviu notícia deles — Nego Nofre da charamela, Nego Júlio Samongo do tambor zimbrado e do chocalho de duas cabeças, Nego Lálio do balafo de mão e do gunga de batalha, Nego Miruca de adufo, pandeiro redondo, cavaco, viola, buzina e castanhola, as negras moças bailarinas da Guiné com seus saiões engundados para que se vissem os tornozelos cingidos de fitilhos e tranças de capim de cheiro, até muitos que haviam apanhado por fazerem batucajé e baterem tabaque escondido, até Nego Leléu, mosqueado de tabatinga e roxo terra, cabeleira empoada e saial de mangas rocadas em todas as cores. Mas o cônego não quis assistir a nada daquilo, porque o estridor dos atabaques, dos agogôs e dos ganzás lhe dava dor de cabeça, e perguntou como podiam suportar tamanha zoeira, atordoante função avernal, após os píncaros a que os tinha transportado a serafina da capela. Despediu-se do cortejo com um aceno das costas da mão, quase um repelão, e subiu à cadeirinha para ser levado de volta à casa-grande. Perilo Ambrósio, a quem aquilo tudo também incomodava, alegrou-se em ver que podiam voltar à fresca das varandas, longe da zoadeira e do cheiro dos pretos, longe do mal-estar que lhe davam aqueles sons, aquelas cores, aqueles movimentos. Muita gente, contudo, decidiu ficar, entre palanganas de canjica e mungunzá, tabuleiros de lelê, pamonha, acaçá, milho cozido e docinhos de leite e ovos, sequilhos de goma, beijus e mingau de carimã, de milho e de tapioca, alguidares de amendoim cozido, pé de moleque, alfele, mel de engenho, bolo de fubá, bolo chico-felipe e bolinho de milho solado da casca grossa e tantas outras coisas que a baronesa mandava fazer para que o povo comesse no dia de sua festa. E, porque sentia um intenso prazer secreto, em apreciar aquela multidão, homens, mulheres, meninos, velhos, mestiços, negros, funcionários, operários, toda aquela gente, cuja baronesa era ela, se refocilando nos caldeirões de mingau e nos morros de cuscuz, emborrachando-se de tanto comer, carregando comida nas bochechas, mãos, chapéus e algibeiras — tanto prazer que às vezes ria desatadamente, quase sem poder mais parar —, porque tinha antecipado esse prazer, relutou em acompanhar o marido. Mas não podia deixar de segui-lo e assim nem chegou a ver quando os negros principiaram a fazer roda no outro extremo do terreiro, meio escondidos pelo povo que os cercava e pelos jegues amarrados nos mourões do telheiro de palha onde se juntaram e de onde às vezes saía um grito ou risada de som desencarnado, meio embuçados pela própria luz do sol, que cegava quem procurasse enxergá-los de longe. Como se não houvessem chegado lá pelos próprios pés, mas de repente eclodissem inteiros na quina do terreiro, os negros deram partida, uns berros de ai-ê perfurando as copas das mangueiras, uns clangores de metal interrompidos, uns anúncios incompreensíveis — e lá vem aquela onda catassol de panos coloridos e peles pretas, tamanqueando as pedras no ritmo metralhado pelas baquetas nos costados de madeira dos tambores. Fizeram a roda, abriram a roda, fecharam a roda, as vozes das mulheres subiram acima de todas as cantorias e batidas, a roda se desfez como um carretel desenrolado, as baquetas redobraram a marcação e redobraram em cima do redobre, a roda se transmutou numa fila ombro a ombro, lá vinham eles marchando de lado, os troncos oscilando, os pés indo e não indo no repique do tambor maior, as baquetas estacando de chofre a cada tantos compassos e explodindo de volta depois
que somente os pés, uns se arrastando, outros sapateando, haviam segurado o ritmo. Algumas crianças brancas se soltaram das mãos dos grandes para ir dançar também, à medida que tomavam a praça o matraqueado das baquetas, o repenique dos agogôs, a cascalheira dos ganzás, as harmonias das buzinas e violas por cima da percussão, e a fila dos negros vindo de lá como uma cobra dançarina. Mas logo os grandes agarravam os meninos e deixavam apenas que abanassem os pés, sentados na balaustrada do adro ou nas janelas do almoxarifado, enquanto reconheciam encantados as caras dos negros cruzando por ali aos pinotes, daquela forma nunca imaginada. Nego Leléu parou, pulou e recitou as palavras decoradas com que dizia que era o fidalgo do Grande Chifre da África, ali chegado depois de viagens de mais de mil e seiscentos dias cada uma, em navios que tinham mais de quatrocentas braças de envergadura, com seus quarenta mil cavalos branquinhos, branquinhos, seus oitenta capitães holandeses, suas oitocentas noivas, seus muitos e muitos mais que doze mil soldados, e agora ia apresentar seus negros àquela grande população. Sacudindo no ar o bordão que usava para se transfigurar no africano velho, apontou para um negro aqui, outro ali, e mostraram piruetas mágicas, representaram luta com facões, as negras moças, uma por uma, se soltaram da fila e deslizaram saltantinhas pelo terreiro como aves dos alagadiços patinando na flor-d’água, as cabeças voltadas para o alto, os pés martelando o chão em tropelia e ao mesmo tempo parecendo não tocá-lo. Nego Leléu fez a graça da bochecha, fez a graça do bragantino aborrecido que manda castigar os escravos no pelourinho, fez briga de cabeçadas — cadê esse bom, que eu vou zupar, zupa-zupa! —, dançou a dança do Pai João enchendo a boca de farofa de dendê para bufar em cima dos outros pretos, fez todo o comando do baile até que o barão mandou o positivo Nicodemo com o recado de parar. Que fossem comer e depois dormir, para amanhã cumprirem as obrigações. Nego Leléu, que já tinha deixado de prestar atenção no que fazia assim que dera por Nicodemo dobrando a quina do terreiro, escutou o recado no pé do ouvido sem parar de balançar mas muito sério, assoviou com os dedos na boca para fazer a orquestra calar-se, tirou o saial pela cabeça ficando de calção e camisu como os outros, esfregou a roupa amarfanhada na cara para limpar o suor misturado aos pós de cor, levantou os braços e comandou o fim da dança. Sim, não eram os mesmos, esses negros antes foliando no terreiro da capela e agora espalhados em pequenos grupos aqui e ali na capoeira. Eram mandingueiros, isso sim, feiticeiros da noite, gente mandraca que só ela, gente versada nas coisas da pedra cristalina, do poder das almas e das divindades trazidas da África nas piores condições e mal podendo sobreviver ali, gente capaz de com as plantas do mato infusar os mais terríveis filtros envenenados e os amavios mais irresistíveis, capaz de costurar e amarrar os espíritos por toda espécie de sortilégio, capaz de ver o futuro em toda sorte de presságio, capaz de conhecer o lado mágico de todas as coisas. Nem todos iguais, pois uns acreditavam mais nisso, outros mais naquilo. Uns, por exemplo, tinham por sagrada a gameleira branca que dominava a capoeira e tratavam seus tambores como deuses, a quem davam, da mesma forma que aos deuses do ar, dos matos e das águas, comida e bebida. Estes eram maioria, mas alguns deles muitas vezes se juntavam aos que obravam por meios diversos. Isto porque era comum que procurassem crer em tudo o que pudessem, pois o que precisavam era conjurar todos os manes e forças secretas para vencer algumas batalhas, já que vencer a guerra parecia fora do alcance de suas divindades, coagidas a viver escondidas e disfarçadas, tomando nomes falsos e sendo
negadas a todo instante, sem receber as obrigações que lhe eram devidas, sem nada, enfim, que as ajudasse a irromper daquela capoeira de uma vez por todas, não mais ficarem ali presas e cabisbaixas, mas se soltarem livremente pelo meio de seu povo. Então não eram realmente os mesmos, esses negros, não tinham as mesmas caras galhofeiras que exibiram na festa, não pertenciam a ninguém, como lá sempre pertenceriam. E pelo menos hoje podiam bater seus tambores, pois haviam ido embora o barão, a baronesa e seus convidados. O feitor Almério, mulato e com muitos parentes cativos, tinha medo das mandingas, sabia que, por ser ele meio preto, os deuses de seus parentes o alcançariam em qualquer lugar, tal como os espectros de seus mortos, se bem chamados. Tanto assim que nunca se aproximava da capoeira à noite e, mesmo durante o dia, punha bem exposto o crucifixo no peito e se benzia antes de entrar naquele território arredondado, em que, para onde quer que o rosto se virasse, estava sempre dando as costas para alguma coisa a que não se deveria dar as costas. No dia seguinte a qualquer festa na capoeira, mesmo se provocado pelo ar zombeteiro de algum preto ou pela cantiga murmurada entre dentes por alguma preta, fingia invariavelmente não ter ouvido os tambores e as celebrações, como se, nas noites mais arejadas como esta, o vento não cobrisse toda a Armação com aquele som que perseverava noite adentro igual a uma coisa viva. Quando uma vez amanheceu à sua porta uma arrumação de comidas amarelas e bichos sacrificados, ligada à soleira por uma trilha de farofa pontilhada de sangue, saiu pela janela, foi trabalhar tremendo e, apesar de ter batido muito nos cativos naquele dia, não conseguiu ocultar o medo e, na volta à casa, tropeçou numa raiz, caiu, quebrou um dente e destroncou o queixo, ficou praticamente sem poder falar e comer. Não dormiu nessa casa os sete dias que se seguiram, obrigou as que eram rezadeiras e as que não eram a benzer e exorcismar a soleira e o quarto de cama e de vez em quando salpica água benta no chão antes de dar o primeiro passo para fora. Amleto, que ficara na casa-pequena com Teolina, tinha chamado Almério e dito a ele que fizesse os pretos ter bom comportamento, que fosse severo e não perdoasse a menor falta, pois sua responsabilidade como homem de confiança era maior que a do senhor daquelas propriedades. Mas também sabia que os tambores iam bater como sempre batiam na ausência do barão e, embora o sangue lhe fervesse e sentisse tanta raiva que lhe vinha gana de esmurrar tudo em volta, tampouco encontrava coragem para abrir a porta com um candeeiro na mão e enfrentar aquela treva infestada de ameaças e acontecimentos desconhecidos. E, deitado em sua cama de cabeceira alta em companhia de Teolina, uma touca de filó retesada no cocuruto para alisar os cabelos, os olhos muito abertos, o camisolão abotoado até o pescoço, os dentes cerrados com força e as palmas das mãos empurrando as coxas, pensou mais uma vez em como um dia seria tudo diferente, muito diferente. “Um dia, dono serei”, pensou, sabendo que teria muito trabalho para dormir, e não só por causa do estrondo longínquo dos tambores, que viria pelo meio das árvores daí a pouco. A orquestra dos negros também era outra agora. Não eram mais tamborins, eram os ilus, arrumados com seus bilros de madeira como uma guarda armada; não eram mais os ganzás, eram os amelês, ornados de contas e fitas; a cabaça se chamava aguê, o chocalho adjá, e o som da buzina agora era o da flauta afofié; e o tambor rum e o grande tambor batacotô, de fama guerreira, e mais todos os instrumentos que lembraram, de suas terras ou de seus mais
velhos, para construí-los aqui, pois que eram de muitas e muitas nações antes separadas, agora tendo de juntar os corpos, as línguas e as crenças. Negro Lírio, aqui chamado Alibá e ObáXoró e também de outros nomes conforme o dia, o lugar e a pessoa, fez um sinal, levantou a voz e, com o rosto sem expressão, olhando para baixo de olhos semicerrados, cantou alguns versos curtos, repetiu-os em tons gradualmente mais altos. Do lado escuro da capoeira, uma voz de mulher ecoou o refrão, logo outras a acompanharam, logo a orquestra deu a primeira batida, logo os arbustos mudaram de cor e substância e as mulheres emergiram deles para dançar no clarão das lumeeiras. E logo, por todos os pontos da capoeira, quer estivessem os pretos dançando, cantando, conversando ou só andando de um lado para o outro, tudo ficava vivo e tudo era possível. Por ser assim a hora em que não se podia duvidar de coisa alguma, Nego Leléu, que não acreditava em nada mas sentia com naturalidade que o ar ali era diferente, não quis deixar de comparecer. Ia embora no dia seguinte de manhãzinha, levando a negra Vevé, que por sinal estava ali, que por sinal ele precisava vigiar. Esperou com paciência, de pé junto a um coqueiro fora da capoeira, que a visão se acostumasse ao escuro mais fundo que havia ali, apesar das tochas. Bem do outro lado, de onde vinha a música, sabia que Nego Lírio estava sentado em sua cadeira de pau e couro, puxando a cantoria, presidindo a festa e recebendo as visitas de suas entidades. Em algum canto, talvez onde duas das picadas que levavam à capoeira se encruzilhassem, haveriam de estar a negra Inácia chamando os cabocos, e os parentes de Dadinha conversando com os antepassados. Em outro canto, Sá Justina, adivinhando e respondendo a qualquer pergunta, do passado, do presente ou do futuro, vendo na água, vendo no cristal, vendo na lua e nas estrelas. Em muitos outros cantos, gente em torno de alguém ou alguma apresentação de novidades. Mas a negra Vevé é parenta de Dadinha, conhece todos os cabocos, só pode estar com eles — pensa Nego Leléu, alisando as rugosidades do tronco do coqueiro e apurando a vista, já mais acostumada a mudar do negrume dos matos para a chama dos fachos. Olha lá, parecendo uns sariguês, curvados como se tivessem que passar sob uma arcada muito baixa, lá vão escorregando para os matos a negra Inácia, de saia arrepanhada e quase despencando para a frente enquanto se embrenha pelo meio das touças, Nego Jeba de goiva branca, a negra Martina, a negra Honorata, Feliciano da língua cotó, Nego Budião da caleça com todo o seu tamanho, aquela renca toda que Leléu não conseguia distinguir direito a partir de onde se postara, mas conhecia pelo jeito e sabia que onde estava um, estava outro, nessas horas. E Vevé, aqui com o nome de Naê, onde estava ela? Leléu já ia ficar inquieto e armar planos para o dia seguinte, quando viu chegarem à mesma entrada do meio dos arbustos os vultos de Custódio Arpoador e Vevé, ela um pouco curvada mas andando firme, ele segurando-a pela cintura. Ah bom, é ali mesmo — pensou Leléu, recordando que conhecia o lugar, uma encruzilhada em que, quando fazia lua a pino, a luz descia como uma tocha de cabeça para baixo, porque as árvores grandes que em torno se juntavam espessamente abriam sobre essa cruz do chão um buraco em suas copas. E lá o capim amassado pela passagem de muitos pés exibia cicatrizes pretas, pontos esturricados onde sempre se acendiam velas e se esfregavam as mãos. Não iria atrás deles, rodearia pelo outro lado, apareceria logo depois que chegassem e começassem a acomodarse, talvez fosse até bom que aparecesse dessa forma. Bateu dos lados do chapeirão desabado, olhou à direita e à esquerda e se enfiou de volta pela picada, até poder cortar caminho para a
encruzilhada. E, dito e feito, chegou na hora em que Inácia, prendendo as bainhas do vestidão sob as dobras dos joelhos, se acaçapava bem na cruz dos dois caminhos e orientava os outros com gestos. Inácia tinha bebido, coisa que Dadinha não fazia, mas ninguém se importava, como não se importavam com o charuto enrolado em fumo verde que ela mascava quase nunca acendendo, nem com os safanões que às vezes dava em um ou outro no meio das grandes conversas e discussões com os cabocos. Nego Leléu bateu de repente com a encruzilhada, quase toma um susto, mas teve tempo de se abaixar no meio de uns galhos, enquanto Inácia, a voz engrolada, pedia pressa e expediência a todos e explicava que naquela noite haveria muita ocupação, todos os cabocos iam fazer presença, talvez até o caboco Capiroba, ela estava farejando qualquer coisa, qualquer coisa, uma coisa diferente. — Farejando eu, Nacinha? — gritou Nego Leléu dos matos, dando um salto de pernas abertas para cair na frente dela de repente. Mas, se os outros se espantaram e ficaram frios com a aparição, Inácia não se abalou e até demorou em levantar os olhos, porque estivera falando enquanto escarafunchava o chão com um graveto. — Mecê mecezinho, hem? — disse. Rolou os olhos injetados para Leléu, entortou a boca num sorriso ambíguo. — Ora me veja, ora homecreia, depois de velho virou sapo para pular na frente dos outros dessa maneira, achando que ninguém espera essa arte besta, tem mais o que fazer não, esse menino? Tomou susto, fio? Fez alguns gestos hospitaleiros, mexeu o pescoço como um calango. — Assente aí — convidou. — Daê mecê vai levar, não vai? Assente aí, jeite o rabo. Então, vai levar Daê? Leve, leve. Mas veje antes, veje as coisas, custa nada. Hem? Assente aí. Leléu se desconcertou, não quis olhar para ver se os outros estavam rindo. — Tu me viu chegando — disse. — Vi mecê saindo, eu le vi foi saindo! — riu Inácia, divertidíssima, e caiu de lado como se a tivessem empurrado. — Mas está muito jurgado, muitíssimo jurgado, ora se não le vi saindo, não le vi chegando, não le vi armando treita, não le conheço né de hoje nem de onte, ora me deixes, hué-hué-hué! — Inácia... —, disse Leléu, sem saber bem como faria para impor respeito, sem saber nem se Inácia era considerada Inácia mesma, naquela hora. — Se oles, se xergues, se suntes, se veje direito, se comprendes, se entendes, não te fiques metides, tarantarão! — gritou Inácia, levantando-se e falando língua de caboco muito perto do rosto dele, que curvou a cabeça para trás. — Taratará, torotoró, tiritiri! Se assunte! Assente aí! Ele relutou em sentar, chegou a dobrar as pernas uma vez e erguer-se de volta, mas ela abanava o braço insistentemente para baixo e ele acabou se agachando. Incomodou-se com o olhar fixo e embriagado que ela lhe dirigiu durante longo tempo, mas preferiu não desviar o rosto, encarou-a com firmeza. E ela, aos poucos, chegou quase a sorrir, olhava-o com uma expressão de afeto divertido, passou a tratá-lo com muita amabilidade. — Si, si, si — disse, balançando a cabeça como quem ouve um segredo. Explicou então a Leléu que tinha segurança de que naquela noite se declararia grande movimentação e podiam esperar-se eventos talvez nunca vistos aqui antes e, mal acertou o círculo de contas,
acendeu a vela e pôs a mão em concha sobre o cenho, mal começou a oração, abriu-se numa risada larga que lhe agitou o corpo em estremeções, levantou-se tão ligeiro que ninguém viu como, deu uma corridinha até a beira do mato fechado, gargalhou de novo e estendeu os braços para cima. — Reis! — gritou. — Rrrrreis! Ha-ha! Reixe! Ha-ha! Estava talvez contente, mas muito agitado, esse caboco que chegou tão apressadamente. E não queria falar pelos búzios, não queria responder a perguntas — aliás, não se sabia o que ele queria, chegou a dar a impressão de que só tinha vindo para dançar ao som da música do povo de Nego Lírio, fez até menção de ir para lá, mas parou a meio caminho. — Já se viu? — disse Honorata. — Quem foi que chegou assim? Nego Jeba andou até ele, tirou o capirote com um floreio, saracoteou à sua frente, fez uma saudação de curvatura e tentou parlamentar, mas ele lhe deu um empurrão e voltou em marcha aparatosa para a encruzilhada, onde se postou diante de Leléu, agora em pé outra vez. — Zentes aí! — ordenou-lhe com aspereza, indicando a grama da encruzilhada. — Sinique! — reconheceu Honorata. — Eta! Caminheiro da mata, combatente do mar, reis do chucho e do espeto, reis! Rrrreixe! Sinique ficou contente com a saudação, esqueceu Nego Leléu um instante, fez uma mesura elegante para Honorata, como quem pausa num minueto. Mas logo fechou a cara, apontou na direção de Leléu. — Runde! — gritou, com o indicador vibrando em riste. — Runde! — Cachorro — interpretou Honorata. — Sim, cachorro. Sinique não se interessou na intervenção de Honorata, queria mesmo falar com Leléu. — Runde! — repetiu, virando-se para Leléu e quase encostando o rosto no dele. — Runde! Zentezaí, mininré! Zenta, mininré! Leléu marchou de costas dois passos, pensou como seria se desse uma rasteira em Inácia. Não tinha medo, mas ela ficava cada vez maior e mais ameaçadora, talvez fosse baterlhe, de permeio com as palavras estranhas que lhe gritava. E não parecia mesmo Inácia, os olhos, a voz e o jeito eram diferentes. Ele deu um meneio leve no tronco só para ficar na posição para a rasteira, levantou o calcanhar direito do chão. — Senta, senta — interferiu Honorata. — Mininré é “meu senhor” na fala dele. Ele quer que tu sente, ele quer te falar. — Ele quer me falar? Que é que ele tem para falar comigo? — Ele veio por causa da tataraneta dele — explicou Honorata, mostrando Vevé com o queixo. Sinique permaneceu de braços cruzados, olhos colados em Leléu, como se estivesse esperando o efeito das explicações. Leléu achou que talvez tivesse sentido um calafrio na barriga, mas encheu o peito e encostou os punhos fechados na cintura. — E então ele me chama de cachorro? — Runde — confirmou Honorata. — Finada Dadinha... — Runde! Runde! — explodiu Sinique outra vez. Nego Leléu assustou-se de leve, percebeu as têmporas latejando e os músculos das pernas se apertando.
— Runde não! — defendeu-se de um jeito enviezado e insolente, para demonstrar sua disposição de brigar. — Runde né eu mesmo não, cachorro não! Cachorro né eu não! Runde não! — Então quem é? — perguntou Honorata. — Né eu quem diz! — gritou Leléu com energia. — Né eu quem diz, né eu que chega para chamar os outros de cachorro, né eu que fiz nada dessa situação, né eu não! Sinique hesitou, aparentou estar um pouco apaziguado, andou para lá e para cá em passos muito espichados, pôs a mão no queixo, fez “hum-hum” repetidamente, voltou a Leléu. — Zim — disse. — Zim. Eu zabe. Zabe, zabe, zabe! Zenta, zenta, mininré, zenta non? Nego Leléu acocorou-se junto a Sinique, que lhe contou em língua de caboco holandês a longa história da família, netos, bisnetos e a tataraneta filha de Turíbio Cafubá — vanderdique, vanderlei, vanderrague, chivarze sofre! Mulé Vu, caboca, eza sofre, zofre, zofre, comida de fomiga, terrada fifa, gabeza pra bacho, nim me fales! Caboco Sinique enxugou uma lágrima, puxou Leléu pelo ombro, resolveu segredar o que tinha a dizer, em vez de falar alto para todos ouvirem. Zê Mininré, grande Chivarze Leléu, Zinique fai ter canfiança, muito canfiança! — disse, e disse mais que não deixasse de levar a araçanga da menina, herdada do pai. Que muitas e muitíssimas coisas iam acontecer e que ele, Leléu, nunca pensasse que podia imaginar o que ia acontecer, porque não ia, era muito sabido mas mais sabida é a vida. E que — fem cá, fem cá, Zinique muito na canfiança em Chivarzinho Leléu, mô fis, ascuta aqui, atençón mininré, mô fis, ascuta aqui atençón — Daê estava com filho na barriga, enxertada pelo barão, pura verdade! Leléu procurou olhar para Inácia, mas ela continuou agarrada a ele, puxando-lhe o ombro, com a boca encostada na mão em concha sobre seu ouvido. — Inácia... — começou a falar ele. — Hum? — fez ela, parando de cochichar. Mô cafalo, mô cafalo! — Inácia é o cavalo dele — disse Honorata. — Aí não é Inácia, é ele. É Sinique, tu não já viu? Leléu quase suspirou. — Está certo, está certo — disse e encarou Inácia outra vez. — Quer dizer então que Naê... — Zut! — Inácia arregalou muito os olhos, pôs o indicador sobre os lábios e se levantou abruptamente. — Chi! Chissiu! Chivarze ousado, falador, bocarrota! Zut! — e, antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, empurrou-o com violência e ele caiu de costas no chão. — Se ele cochichou, é porque era segredo — disse Honorata. — Vai-te à merda, Honorata — respondeu Leléu, batendo a mão na manga da burjaca para sacudir a terra que se grudara nela e dando um salto para atacar Inácia. Mas não prosseguiu, porque naquele instante aconteceu alguma coisa que ninguém soube bem o que era mas fez com que a passagem do tempo parecesse deter-se, talvez pouco, talvez muitíssimo, havendo quem pensasse que relampejara, embora fosse noite estrelada. Sinique, primeiro fazendo barulhos roucos na garganta, depois carrapeteando desembestadamente em direção aos matos, desapareceu na escuridão, ouvindo-se somente um
cocorocó de vez em quando, um bodejo ou outro, sabendo-se que esse caboco Sinique, quase sempre sem quê nem para quê, gosta de fazer vozes de bichos de cercado. Leléu não foi atrás dele, na verdade ninguém a não ser ele se mexeu durante esse tempo impossível de medir. Talvez fosse porque, atraída para ali havia horas, a almazinha tenha chegado perto demais e então, de modo tão instantâneo que nem as almazinhas saberiam descrevê-lo, entrou num torvelinho e se viu, agora com as lembranças apagadas e a consciência adormecida, dentro do ovinho que nem ainda começara a rolar pelas entranhas de Naê em direção a seu ninho. E, se a alminha quase não sentiu nada além do medo impotente que traz a encarnação e agora nem mesmo se lembra de que não mais ficará na brisa da ilha a sonhar, muito menos sentiu Naê, que naquele instante apenas inspirou um pouco mais fortemente, como faz toda fêmea fecundada no momento em que um espírito ocupa seu ovinho. Por isso ninguém soube responder direito a Inácia, quando ela voltou dos matos desgrenhada, os nós dos dedos ralados, a roupa dilacerada em dois ou três lugares e a peitarrama arfando, e perguntou quanto tempo tinha passado sumida lá fora. Queixou-se com amargor desse caboco Sinique, que mais uma vez a tinha levado para o matagal, arremetendo por esgalhos e garranchos sem respeitar urtiga, tiririca, cansanção, coisa nenhuma, investindo contra todo mourão e vara de cerca que encontrasse, para deitá-los abaixo com as mãos nuas numa pressa que parecia que o mundo ia acabar, deixando-a novamente neste estado em que agora a viam, quisera ela numa hora destas nunca mais ser cavalo de nenhuns cabocos. Isto, porém, sabiam todos, era desejo vão, porque tão logo se acomodou, depois de beber água, lavar os olhos e enrolar um torço na cabeça, os ombros mais uma vez se sacudiram, o pescoço se lançou para trás e — rrreixe! — foi-se até quase o dia raiar por chegadas e partidas de cabocos, amigos e parentes, cochichos, conversas, consultas, abraços e preceitos, toda a noite ilustrada de aparições e atos mágicos.
Casa do sítio da Armação do Bom Jesus, 15 de junho de 1827.
É possível que tanta teurgia assim lançada à atmosfera, tantos espectros fazendo ali frequência, tantos acontecimentos singulares — a noite bem carregada que Inácia pressentira — houvessem levado a que o sota-cocheiro da caleça grande, Nego Budião, fosse nessa noite aconselhar-se com os espíritos silvestres. Ele ia sempre à capoeira com os outros, mas nunca tivera participação a não ser para ajudar, principalmente a Feliciano, cuja linguagem de gestos entendia como se falada. Fora mesmo através dele que todos souberam em pormenores como morrera Inocêncio no campo de Pirajá, com o sangue roubado pelo barão para falsificar glória de guerra, e souberam como tinha sido cortada a língua de Feliciano, mesmo ele havendo chorado e jurado por todos os santos brancos que se o poupassem jamais diria uma palavra sobre o assunto. Mas não adiantou — contou Feliciano a Budião, os braços tremendo, os olhos cheios d’água —, pois eles apertaram minhas bochechas dos dois lados até que eu abrisse a boca, puxaram minha língua para fora com uma torquês, cortaram bem fundo com um cutilão de magarefe e depois queimaram o toco no ferro em brasa. Não é só falar — contou Feliciano
dando uns roncos guturais — que a falta de língua impede, mas não se mastiga, não se engole o cuspe, não se sente o dente, não se sente o gosto, não se pode conter a baba e, de vez em quando, no meio da noite, é como se a língua tivesse voltado a seu lugar, coçando e querendo mexer-se, mas não se pode coçá-la nem movê-la, porque ela não está lá, é uma assombração. Desde a primeira vez em que, Budião lhe traduzindo os gestos para os que estavam na capoeira, Feliciano deixou todos em arrepios com sua história, ele sempre repetia sua praga contra o barão, a qual consistia em que morreria de morte doída e presa, sem poder confessar os pecados, levando-os embotijados para seu inferno. Batia no ombro de Budião, fazia o gesto de quem tira alguma coisa da boca e a joga ao chão, e Budião já sabia: ele queria rogar a praga outra vez. Embora Budião a conhecesse de cor, esperava sempre que cada palavra fosse gesticulada por Feliciano, que as escutava com o rosto pregueado, o ódio lhe esquentando a testa. Dessas ajudas e da repetição da praga toda vez que Feliciano pedia, nunca porém passou Nego Budião, havendo sido com surpresa que lhe notaram a ausência bem antes de a noite terminar. A princípio, julgaram que tivesse ido para o lado do povo de Nego Lírio ou resolvido escutar as adivinhações de Justina Bojuda, mas, quando saíram já de madrugada, ele ainda não tinha voltado. Inácia, tonta de tanta trabalheira, disse “ele volta, ele volta”, mas nisso não existia mais que uma suposição natural. Afinal, aonde iria ele para não voltar mais? Só se a cobra mordeu, o bicho comeu, o chão engoliu. Mas nem cobra, nem bicho, nem chão, pois quem sai senão ele de trás do milharal, trilhando pelo meio das covas de mandioca, espantando os pintos e levantando uma zoada de galhos mexidos, na mão um embrulho de folhas e uns molhos de ervas, o calção e o camisu molhados pela umidade das plantas e cobertos de carrapichões. O dia amanhecido, Feliciano amarrando os pés de um frango para capar, duas meninas jogando restos de siri pilados para as galinhas, o orvalho já se evaporando da horta e das plantas de folhas largas e Nego Budião chegando com aqueles olhos desbolados mais abertos ainda do que de costume e o gogó subindo e descendo. Não queria ser visto, parou na curva da casa da farinha e fez sinal para Feliciano. Queria conversar malocado, estava impaciente. Feliciano desatou as pernas do frango, jogou-o de volta ao terreiro e correu para a casa da farinha, junto da touceira de banana-d’água. Que assanho é esse, que novidade é essa? Meio sem fôlego, Budião não sabia por onde começar, apontou para trás com a mão cheia de folhas. Viu visagem? Vi, respondeu ele, vi. E, deixando a historiação sair na ordem que ela quisesse, contou que naquelas plantas estava a praga. Não a praga, propriamente, que esta se encontrava na cabeça de Feliciano, mas a força da praga. Pois, sem nem se dar por conta, ontem de noite não as achara no meio dos matos de repente e lá, parecendo que havia uma voz orientando-o e uma mão a guiá-lo, não colhera dessas plantas cujas folhas agora mostrava, estando nestas folhas toda a força da praga, mesmo, mesmo? E, também sem se dar conta, não voltara aqui certeiro pelos ermos e agora, se lhe perguntassem onde estivera, não poderia dizer porque não lembrava nada, nada do caminho? Desta folha faz-se o pó, desta outra a infusão! Feliciano espalmou as mãos, fez uma careta de incompreensão. Nego Budião se impacientou, agitou as folhas, quase sapateou. Será que Feliciano não se lembrava da praga, da própria praga, da praga que Budião repetira por ele tantas e tantas feitas? Feliciano fez que sim, um meio sim, e Budião, com seu sorriso lunático, disse: e então? E então? E pois não é por essas folhas e tudo mais que me ensinaram
muito bem ensinado que o barão vai morrer de morte doída e presa, sem poder confessar os pecados?
6
Salvador da Bahia, 23 de agosto de 1827.
Fazia mais de um mês que o barão se adoentara e quase um mês que, forçado pelas circunstâncias e pela confiança crescente que sua competência e exação lhe asseguravam, Amleto Ferreira respondia pelo expediente do escritório do Terreiro de Jesus. Isto queria dizer que conduzia todos os negócios do barão, até mesmo os mais pessoais, eis que Perilo Ambrósio, com a doença, alternava sua disposição entre acessos apopléticos de cólera, quando chegava a blasfemar e arremessar as louças contra a parede, e estados de fundíssima melancolia, quando mal falava e permanecia a maior parte do tempo sentado junto ao janelão com o queixo depositado sobre a barriga, chupando a língua interminavelmente. Se no começo ainda prestava uma atenção impaciente aos números minuciosos que Amleto, pelas três da tarde todos os dias, desfiava no gabinete da casa do Bângala, remexendo livros de contas, rolos de papel amarelados, letras e estampilhas, logo se entediou e às vezes nem recebia o guarda-livros, que neste caso encerrava as tardes tomando chá com sequilhos e escutando as muitas mágoas e dissabores que nunca cessavam de afligir a baronesa — culminados, nestes dias negros de agosto, mês do desgosto, pela roaz doença que ameaçava privá-la do convívio amante de seu Perilo Ambrósio, lá com seu defeito ou outro, mas um homem bom. Haveria sempre o destino malvado de enviar-lhe uma provação atrás da outra, sempre um novo espinho em sua fronte, uma nova chaga em seu peito? Não lhe bastava o seu paizinho, que, ai, nem sequer podia mais andar e não reconhecia as pessoas mais chegadas? Será que nunca mais veria a saúde estampada no rosto rubicundo do barão — ai, nem mesmo as notícias da política e das finanças o interessavam, sentia que a vida lhe fugia a cada dia, que pecados, que pecados são esses que se estão a pagar com tanto sofrimento, será que Deus assim não põe em excessiva prova seus melhores filhos? Ninguém sabia o que causava o mal do barão, descrito pelo cirurgião Justino José como congestão visceral, agravada por uma renitente fraqueza nervosa. O cirurgião tinha o hábito de agitar o lábio inferior como quem recolhe ar em conchas, todas as ocasiões em que era obrigado a admitir a gravidade de alguma situação e, por conseguinte, devotava grande parte das consultas a bater os beiços de um lado da sala para o outro, repetindo seu diagnóstico e estalando os nós dos dedos. Não era bom paciente o senhor barão, pois, prevendo o tratamento elegido que fosse lancetado vinte e seis vezes e tivesse ventosas e sanguessugas aplicadas tão amiúde quanto demandasse a necessidade de descongestionamento, já à terceira lancetada ele espumava de furor e punha todos para fora do quarto a impropérios e safanões, a ponto de a presença de mulheres deixar de ser permitida durante as visitas médicas. Agravou-se dessa maneira a enfermidade, padecendo agora o barão de urinas e bostas presas muito dolorosas, que o levavam a uivar lastimosamente toda noite, enquanto, amparado nos ombros de dois negros, sem calças e com a camisola arrepanhada diante de um penico sustentado por outro preto, espremia em vão a barriga
transformada numa bolha de fogo, pingando gotinhas de urina avermelhada e ardente, a intervalos que a todos pareciam eternos. Não houve o que se não tentasse das artes e ciências iamológicas, de chazinhos e eletuários recomendados pela sabedoria dos antigos a cataplasmas ferventes, clisteres, pedilúvios, eméticos, banhos de assento, fumigações, purgativos, águas mornas, emplastros, benzeduras, todos os recursos, até mesmo o das sanguessugas e lancetas, nas horas em que, desfalecido e incapaz de resistir ao assalto do cirurgião, o barão se deixava retalhar como uma árvore da qual se sangra a seiva. Mas, talvez por haver tanto tardado o correto socorro da boa Medicina, nem sequer essas medidas lhe trouxeram alento, tendo mesmo aporismado algumas das chagas abertas pelos golpes da lanceta, não se encontrando medicamento capaz de vencer a virulência das postemas que a cada momento desabrochavam em novas fístulas no corpo ensoado do doente. Agora, ao sofrimento dos canais escoadores entupidos, adicionava-se o da comichão infernal de tantas perebas lambuzadas de vulnerários, unguentos, pomadas e pós, que lhe viravam a roupa da cama numa espécie de lamaçal untuoso e enchiam o quarto de cheiros inacreditáveis. Pior que isso, quando por acaso fazia efeito alguma das puçangas que passara a beber indiscriminadamente sem nem perguntar de que se tratava, não aguardava que lhe acudissem ao chamado os pretos. Com medo de que, à espera de comadres e penicos, deixasse passar o exato instante e de novo se prendessem as tripas e a bexiga, soltava-se onde e como estivesse. E, porque muitas vezes corria jorro copioso e irresistível, era quase sempre encontrado ainda a meio caminho em seu alívio, cercado por uma poça rala de cor indefinida, por estentores de peidos e por uma aura de fedor quase tangível, no centro da qual sua expressão de beatitude pelo desenchimento lembrava o torso de uma estátua demente. Apesar de tudo, tais ocasiões eram invariavelmente festejadas, bendizia-se a tisana que causara a enxurrada, acendiam-se velas, anunciava-se o início da cura. Mas se, logo nas primeiras horas que se seguiam, Perilo Ambrósio, abalado, enfraquecido e receando novamente entalar-se em todas as saídas do corpo, passava a chá de quebra-pedra e pouco mais, cedo sucumbia à fome e ao despeito de saber que os outros continuavam comendo à vontade e, ignorando o que lhe ponderavam até mesmo as negras da cozinha, atafulhava-se de tudo em que podia meter as mãos, em expedições embrutecidas ao fogão e aos guardacomidas. Inicialmente, punha os dedos na garganta para vomitar cada vez que se sentia empazinado, mas depois ingurgitava o estômago definitivamente, para em seguida dormir, ter pesadelos, gemer, chorar e acordar passando mal. Buscado de volta o remédio que operara o milagre anterior, ele não mais fazia efeito, não importava quanto o escorassem em rezas e promessas e quanto, até com carinho, com desvelo mesmo, a mucaminha Emerenciana, conhecida por Merinha, o fizesse beber gole por gole, numa paciência sem fim, da caneca que podia conter a salvação. Tudo porém logo voltava ao dantes e os corredores do sobradão tornavam a estremecer no meio da noite, iluminados por chamazinhas tênues de lamparinas e frequentados por sussurros nervosos, o barão cainhando pela dor de tudo que o intumescia querendo sair sem poder. E mais uma vez temia-se pela sua vida, pois afundava em astenias prolongadas, por vezes dias a fio despencado como uma fruta passada, sem mesmo esboçar qualquer protesto quando o cirurgião, já cético quanto à cura, decidiu-se por um tratamento heroico e o lancetou mais catorze vezes, apresentando aos parentes o sangue escuro extraído, para demonstrar-lhes a seriedade da condição do paciente. Prescreveu ainda reputada fórmula
carminativa à base de fedegoso, que já valera a salvação de casos e mais casos tidos por perdidos, recomendou que, ao sentir sede o barão, dessem-lhe maná e sena como se dá água a beduínos, explicou que, quando o barão vomitava e parecia entrar em convulsões ao ter clisteres injetados velozmente pelas tripas acima, era uma reação denunciante da vitalidade persistente do organismo, proibiu que o doente comesse qualquer coisa que lhe pudesse fazer volume nos intestinos já tão infartados de matéria fecal aprisionada, debruçou-se diante de uma folha de papel pautado em que descreveu os órgãos abdominais e seus diversos humores simpáticos e antipáticos, listando o que na Natureza combatia tais antipatias e simpatias de cujo equilíbrio adviria o recobro da saúde do barão, advertiu severamente a todos sobre a manutenção dos conselhos ali meticulosamente grafados e, levantando-se com suor e ciência misturando-se na testa molhada, afirmou que a moléstia estava cercada, tão cercada quanto podia ser cercada, não se encontrando nenhum capítulo da filosofia natural, da anatomia, da própria iatroquímica, que ali não estivesse mais que judiciosamente aplicado, cabendo apenas contar com a resposta das vísceras do barão, presentemente mobilizadas contra a morte de todas as formas possíveis. E, se já de muito o barão não podia dar a mínima atenção aos negócios, de nada lhe servindo permanecer na cidade da Bahia, que tentasse uma mudança de ares, talvez uma cura de águas na ilha, talvez sarasse pela alteração dos princípios etéreos da atmosfera circundante. Carregado na cama até o cais, de lá transportado com todo o conforto para uma embarcação, chegaria à Armação do Bom Jesus em viagem amena, lá certamente estaria melhor. E assim se resolveu que na sexta, 24, dia de São Bartolomeu, o barão ia passar uma temporada indefinida em Itaparica. Amleto olhou para o relógio, deteve-se em observar a roda de escape, cujos dentes se viam por trás do vidro e do pêndulo enfeitado por miniaturas esmaltadas. Sete horas já eram, o ponteiro comprido começava a transpor o segundo I do XII exoticamente serifado que encimava o mostrador. Ele sabia que as horas batiam um pouquinho depois de marcadas pelos ponteiros, esperou impaciente o momento em que a roda esbarraria numa resistência maior que a rotineira, daria um pequeno tombo e acionaria o mecanismo do gongo. O funcionamento do escritório começava oficialmente às sete, mas ele se orgulhava de estar sempre lá às seis e meia, às seis até, se considerado o tempo em que, colocando e retirando o pince-nez, passava em andar pompeado pelo Terreiro e pelo Maciel, examinando os arredores e os circunstantes como se os estivesse permanentemente avaliando. De vez em quando interpelava um negro ou outro, perguntava-lhe de quem era, queria saber se tinha bilhete, se podia estar por ali, vagabundeando àquela hora. Comentava o fato com outros passantes, criticava o estado de coisas a que chegava a Nação com a crescente vadiagem e a consequente dissolução dos costumes, finalmente dava um jeito de encaixar na conversa os importantíssimos negócios que aguardavam seu alvitre. Negócios do senhor barão de Pirapuama — esclarecia, aparentando naturalidade. Ultimamente, contudo, já não conversava tanto, achava até tolice haver feito tantos esforços para que soubessem de sua posição e atividade. Sim, tolice, coisa desnecessária, coisa prejudicial mesmo, sob qualquer sentido. Continuava chegando à praça às seis, continuava a circular pelas ruas em torno com a mesma expressão de quem está o tempo todo prestes a indignar-se, mas gradualmente se fazia mais distante e reticente, economizava até mesmo as saudações, antes excessivamente efusivas, às pessoas de bem com
quem de hábito cruzava. Os negros, por seu turno, já o conheciam, temiam-lhe a inquisição e escondiam-se durante o seu passeio empinado, de chapéu alto, bengala encastoada e casaco preto muito bem passado. Às seis e meia em ponto, assim que começavam a dobrar os sinos da Ordem Terceira, puxava da algibeira com certa solenidade a grande chave da porta de baixo, escancarava-a até as duas partes encostarem nas paredes do vestíbulo. Manejava com destreza o complicado sistema de trancas e taramelas da porta do corredor, entrava, passava as trancas novamente e, logo à direita, subia a escada de madeira e ferro em direção ao andar de cima. Lá o preto liberto João Benigno, que morava ao rés do chão, no telheiro dos fundos, já devia ter acabado a limpeza para esperá-lo à porta da saleta. Às vezes se ousava, queria conversar, queixava-se dos ratos, toda noite para lá e para cá, como se aquilo fosse deles. Amleto raramente o escutava, quase sempre lhe fazia um sinal amuado para que calasse a boca, reclamava da poeira que encontrara sobre a escrivaninha no dia anterior, reclamava do sujo que vira no passeio à entrada, recusava-se a ouvir explicações e, depois de repetir que o negro não se afastasse da porta lá de baixo nem a abrisse para estranhos sem consultar alguém, trancava-se na saletinha. Primeiro, fazia um círculo pela sala, rente às paredes e armários, uma espécie de inspeção ritual em que realmente não via nada, embora se detivesse aqui e ali, passasse a mão num ou noutro pacote de papéis amarrados com barbante, cheirasse um par de vezes o tinteiro grande como quem tira a tampa de uma panela para sentir o aroma da comida. Ia à janela, ajeitava as cortinas, perdia o tempo necessário para desembaraçar os cadilhos do reposteiro como se fossem uma crina, detinha-se em olhar o povo lá embaixo, em volta do chafariz. Aqui estava sua escrivaninha debaixo da claridade da janela, um ventinho fresco passando pelas persianas, os papéis arrumados em pilhas ordeiras, o porta-copos de prata lavrada em forma de trevo, à frente da bilha d’água de cerâmica inglesa azul pálido, os livros de contas muito bem dispostos, apertados na prateleira por dois leões de mármore em pedestais retilíneos. Nesta primeira e solitária meia hora da manhã, ali fechado e podendo encarnar quem quisesse, pois que era sua única testemunha, tudo isto lhe dava um sentimento de segurança e tranquilidade, uma satisfação inefável mas concreta, uma espécie de conforto alegre, cheio de perspectivas vagamente felizes. Nesse momento em que, apoiado no espaldar da cadeira, gozava tal sentimento lhe chegando completo como um banho, nunca deixava de andar alguns passos e abrir a porta que dava para a sala do barão. Fixava-se principalmente na elevadíssima mesa de pau-ferro talhado, na cadeira almofadada de veludo ouro e cor de vinho do encosto e dos braços, os retratos de molduras pesadonas nas paredes, a escuridão quase absoluta, só amainada pela luz baça que entrava pela porta entreaberta da saletinha. Somente depois é que se sentava à escrivaninha, lambia o indicador e o polegar da mão direita e retirava, com muitos cuidados para não amassá-la, uma folha de papel almaço da pequena ruma a sua direita, dobrava-a ao meio e, agitando a mão no ar antes de tocar com a pena no papel, escrevia no alto: PROVIDÊNCIAS. Geralmente não eram mais que dez ou doze, algumas transferidas do dia anterior e copiadas da lista que tirava do bolso da calça antes de sentar-se e, depois de usar, rasgava em tirinhas finas, certificando-se de que nada poderia ser lido por quem acaso tentasse saber de que se tratava. Para a maior parte das providências, necessitava conferir papéis e documentos, coisa que fazia sem apressar-se, até mesmo abrindo e reabrindo repetidamente um maço deles a fim de assegurar-se de que tudo estava como queria. A uns dez minutos das sete horas, tinha terminado, brilhava de satisfação,
chegava a desejar ter uma barriga alta sobre a qual entrelaçasse os dedos e girasse os polegares em redor um do outro. Às vezes caminhava na saletinha, às vezes falava sozinho, às vezes arrumava todos os objetos sobre a escrivaninha com tanta precisão que fechava um olho para ter certeza do rigor dos alinhamentos, às vezes se fixava nos mecanismos do relógio. A roda de escape enganchou, empacou na mesma posição mais do que o esperado, deu um pulinho repentino, a corda do gongo zumbiu e as sete badaladas começaram a soar. Amleto contou-as com prazer e, na sexta, levantou-se para destravar o ferrolho da porta da frente da saletinha. Abriu-a e, diante dele, Horácio Bonfim, escrevente, mulato de meia-idade, dentuço e curvado, subserviente e serviçal, porém sempre com algo de insolente nas maneiras — algo que não se podia apontar com clareza, mas fazia com que ninguém se sentisse à vontade em sua presença —, estava pendurando o chapéu numa das pontas do cabide e a bengala na outra. Interrompeu-se quando ouviu a porta abrir, fitou Amleto meio de lado, a bengala quase em riste. Fez uma mesura esquisita, ainda de lado, sorriu. — Ouvi as pancadas do relógio já do corredor — disse. — Devia saber que Vossa Senhoria ia estar abrindo a porta precisamente a essa hora, Vossa Senhoria nunca falha! Muito bom dia, antes de tudo, muito bom dia! Sim, senhor! Nunca falha, quisera o irmão sineiro ter tão bom relógio na cabeça! Sabia que Amleto gostava de elogios a seus hábitos metódicos, falava como quem esperava realmente agradar, embora, talvez de propósito, a falta de sinceridade transparecesse. Amleto sorriu. Não deixava de notar que Horácio mal escondia menoscabo no que falava, mas assim mesmo lhe dava assíduo prazer constatar que aquele homem desagradável, em quem não se podia confiar e que evidentemente o desprezava, só podia agredi-lo se fosse dessa forma velada e ardilosa, alcochoada em rapapés, disfarçada em admiração. Retribuiu-lhe o “bom-dia”, interrompeu novo elogio, desta feita ao corte de seu casaco, para estender-lhe um papel. — Estas pessoas vêm ter comigo aqui — explicou. — Preciso falar com todas elas. Hoje, temos um dia dos mais trabalhosos, além de que parte amanhã para a Armação o senhor barão, temos de arrumar tudo a tempo e a hora. E avise Benigno que, chegando o senhor capitão Martinez, faça-o subir e entrar de pronto. E chegando o meu cunhado Emídio Reis, que também o faça entrar, a menos que esteja comigo o senhor capitão Martinez, mas em qualquer caso não deixe o meu cunhado sair sem falar-me. Vêm também uns negros, querem favores como sempre, podem muito bem esperar até que os chame. Horácio tomou o papel, pôs as lunetas no nariz, leu os nomes com uma espécie de resmungo apressado, elogiou a caligrafia de Amleto — sim senhor, sim senhor! —, podia deixar que ele cuidaria de tudo com diligência. — Sim — disse Amleto. — E, querendo entrar, bata somente uma vez e espere que eu venha abrir a porta. Não é preciso bater muito, ouço perfeitamente a primeira batida. Se demoro às vezes, é porque existem assuntos e transações que não podem ser interrompidas em certos momentos, negócios e sigilo são palavras sinônimas. — Mas perfeitamente! Horácio falou com uma ironia insuportável na voz e Amleto pensou em dizer-lhe qualquer coisa, mas achou que na exclamação havia ainda suficiente ambiguidade para
aconselhar que não passasse recibo, não desse ousadia. — Muito bem — disse, com a mão no trinco. — Muito bem. — Muito bem — ecoou Horácio. Ele ficaria sempre com a última palavra, pensou Amleto, entrando na saleta e passando o ferrolho na porta. Mas já lhe bastava a ansiedade que agora viria, como todos os dias, estragar-lhe um pouco a felicidade quase perfeita. Olhou a lista das providências, teve dificuldade em relê-la com calma, recriminou-se por isto, obrigou-se a uma segunda releitura, desta vez pausada e minuciosa, embora aquilo lhe custasse um grande esforço. Afligia-se pelas dificuldades que podia encontrar para cumprir certos itens, pintava na cabeça em pormenores intrincados o que poderia acontecer de mau ou até desmoralizante e vergonhoso, caso algo falhasse, imaginava traições, azares, coincidências arrasadoras. E também se inquietava pela falta de ordem nas providências. Riscar o número 8 antes do número 2, por exemplo, lhe parecia inaceitável, tanto assim que, quando essas inversões se repetiam, não podia evitar a compulsão de escrever nova lista, com a ordem corrigida, havendo dias em que fazia isso muitas vezes, ruminando um ódio surdo contra todas as pessoas que tanto lhe alteravam a sucessão adequada dos acontecimentos. Por consequência, foi com um certo fogacho que, ao abrir a porta para atender às batidas, sempre mais fortes que o necessário, dadas por Horácio, se deparou com a figura baixinha e agitada de seu cunhado Emídio Reis. Bem verdade que também ficava aliviado em ver que ele não faltara ao encontro, mas era a providência número 5, de alguma forma não estava certo cuidar dos assuntos que tinha com ele antes de tratar com o capitão. Desgostou-se, pensou que certamente reescreveria a lista de providências. — Não é cedo? — falou, sem tirar o corpo da frente da porta entrefechada. — Isto também lhe disse eu — interveio Horácio. — E lhe disse que Vossa Senhoria aguardava primeiro a visita do senhor capitão Martinez. Mas, como o senhor capitão comandante Martinez ainda não chegou e como Vossa Senhoria também disse que... — Está certo, está certo! — cortou Amleto, e deu um empurrão brusco na porta para deixar o cunhado entrar. Passou o ferrolho, experimentou-lhe a resistência, virou-se para dirigir-se a Emídio, já sentado na cadeira em frente à escrivaninha. Parou a alguns passos de distância dele, olhou-o com reprovação. Somente agora notara bem que ele chegara em mangas de camisa, com as fraldas saindo de um dos lados das calças de cintura alta, suspensórios frouxos, gravata desalinhada e uma cinta de couro amarrada desleixadamente abaixo do umbigo. E, em vez de sapatos, estava calçando tamancos. E ainda conservava o mesmo chapeuzinho ridículo que Amleto já tanto condenara como coisa de capadócio, sem nem ao menos o tirar para estar sob telhas. — Mas por que andas assim pela rua nesses trajes de vagabundo? Olha que, se o negro João Benigno não te conhecesse, não te deixava entrar, tem ordens para só deixar entrar gente decentemente vestida, isto aqui não é praça de feira, tu devias dar-te mais ao respeito, como esperas subir na vida se andas assim de tamancos e em fraldas de camisa? E com esse chapelote desqualificado que nem ao menos tens a educação de remover ao ingressar em casa alheia! Emídio fez uma cara de resignação exagerada, tirou o chapéu, passou a mão nos
cabelos, enfiou a camisa nas calças sem convicção. — Ah, tens de desculpar. É a trabalheira! Tu pensas que não dá trabalho cuidar daquele armazém? Tu pensas que é só fazer como tu, que ficas aí por trás dessa mesita a escrevinhar e fazer contas e dar ordens em nome do senhor barão de Pirapuama? Sabes desde que horas que estou de pé, a empilhar mercadoria, a preocupar-me com devedores e empregados ladrões, sem folga nem para tomar banho ou fazer a barba? Não tenho tempo para elegâncias, ou bem uma coisa ou bem outra. — Melhor dirias se dissesses que uma coisa nada tem a ver com a outra. Isto de trabalho não é desculpa para o desmazelo. E de mais a mais, vê-se que tu atropelas o tempo de que dispões, esperava-te pelas nove como combinamos e não tão cedo. Pensas que não trabalho, mas sabes que assim atrapalhas-me todo o dia? Cada minuto aqui é valioso, até mesmo o tempo que passo a ensinar-te as coisas do comércio, que por mais que te ensine nunca aprendes, embora digas que trabalhas e eu não. Por que tinhas de vir agora, quando podias ter ficado entre tuas pipas e mantas de toucinho como gostas e só aparecer na hora aprazada? — Isto era o que me agradava, tu podes crer. Mas não sou eu quem faz os horários da Junta da Fazenda, nem dos empregados aduaneiros, nem desses outros que empesteiam o armazém como moscas. E hoje vai lá um fiscal da Junta do Comércio que ontem quis saber dos selos e das notas de despacho de quase toda a mercadoria que me mandaste da Armação. Disse-lhe que já tínhamos tudo acertado com o Senhor Porteiro da Alfândega e o Senhor Escrivão... — Mas, pelo amor de Deus, não deste a entender que fornecemos mantimentos de graça ao porteiro, nem que pagamos renda ao escrivão, ai pelo amor de Deus! Que se algum dia alguém souber que isto se passa, a palavra desgraça é muito fraca para descrever o que nos ia acontecer. E principalmente a ti, deixa-me que te lembre, para que não penses que também não estás metido nisto até o pescoço. — Isto sei e não precisas lembrar-me e não sou tonto nem desmiolado para contar isto lá ao homem da Junta do Comércio. — Mas é que falas demais. Já te disse, por exemplo, que não te refiras à mercadoria que retiramos da Armação... — Que furtamos da Armação! Bah! Quem nos ouve cá? Tu tens a mania das palavras finas, que em minha boca não calham bem. — Isto não se deve dizer nem de brincadeira, isto não se deve nem pensar! Proíbo-te de falares assim, para teu próprio bem! E que seja esta a última vez que falas desta forma! Tens que tomar tento ou não posso mais trabalhar contigo, serei forçado a dizer isto à tua irmã, que já não anda lá muito satisfeita contigo. — Que tem a mana Teolina que não anda satisfeita comigo, que fiz eu? — Não é o que fizeste, é o que és, o teu jeito, o teu comportamento. — Mas eu trabalho como um cão, eu... — Mas, e o teu estouvamento, tua falta de medida com as palavras? Que seja esta a última vez: ao referir-se à mercadoria procedente da Armação, chama-a simplesmente de mercadoria especial, é o bastante. Mete isto lá na tua cachola! Mercadoria especial!
— Pois então. Pois então não temos nota para a mercadoria especial, eis que não as deram nem o senhor porteiro nem o senhor escrivão. — Deram, deram. Tenho-as aqui comigo. Mas estas são outras, são outras! As que ele pede são outras, que não temos. — Que me dizes, ofereço-lhe também dinheiro? Olha que para a mercadoria especial teremos sempre bom lucro, pois que não nos custa nada e a vendemos pelo preço que queremos. — Não, não, tem calma, calma. Não vás com muita sede ao pote. Espera que ele fale, se ele quiser dinheiro podes estar certo de que tomará a iniciativa, dirá qualquer coisa como “podemos contornar a situação”, “talvez se possa dar um jeito nisto” e assim por diante. Mas mesmo assim não ofereças nada, manda que venha ter comigo, que sou teu cunhado mais velho e teu protetor, que cuido dos teus livros de contas e assim por diante. Isto não é tarefa para ti, eu me entendo com ele. — E que digo eu a ele, como lhe explico a falta das notas? — É muito simples. Diz-lhe que efetivamente se trata de mercadoria do senhor barão e que ali não está à venda, mas simplesmente armazenada para posterior envio a uma de suas muitas propriedades. — Mas... — Deixa o resto comigo. Se ele quiser confirmar a informação, terá de vir a mim, pois que hoje a voz do barão sou eu. E eu saberei como agir, há muitas soluções possíveis, muitos caminhos, estas coisas são de se esperar nos negócios, já existem trilhas abertas. Mais cedo ou mais tarde teria de vir essa fiscalização, melhor até que venha logo, será menos um problema daqui a pouco. Não é mais necessário remoer este assunto, tenho aqui coisa mais importante a resolver. Como talvez já te tenha dito, vai amanhã para a Armação o senhor barão, a quem o cirurgião receitou uma mudança de ares e de águas. Diz-me lá, de artigos de botica, como está o armazém? — Cheio. Até pano de linho temos, umas oitocentas varas. Pois não é da mercadoria especial, que veio nesta última remessa? — Sim, é. Quando transferi para o armazém esses artigos, não imaginava que fosse precisar tanto deles, agora que o barão volta para lá doente. Os negros que passassem, pois não há mesmo necessidade de tantos cuidados com eles, talvez assim não se queimem tanto no engenho de frigir, talvez muitos se queimem porque sabem que têm tratamento, cama, remédios e folga do trabalho, haveriam muitos homens bons e honestos de ter tanta facilidade. — Temos então de devolver os artigos de botica? — Quando te digo que és parvo e parece que tens na cabeça estrume em lugar de miolos, não me queres crer. Com que então achas que estamos a ter toda esta trabalheira com o armazém, trabalheira ainda piorada por estares à frente dele e recorreres a mim para todo dá cá aquela palha, para vendermos de graça nossa mercadoria? Quanto cobras a vara do pano de linha? — Quatrocentos réis. — É isto o que se cobra por aí? — Cobra-se até bem menos, a depender da quantidade.
— Muito bem, a Armação compra todo o teu pano de atadura, mas cobra-o a quatrocentos e cinco, ou seis. E, como todos os outros artigos também os vamos comprar, faz mais ou menos o mesmo tipo de ajuste nos preços, dos boiões à cevada, entendes? Um ou dois réis pelo cento, estes pequenos acrescentamentos parecem pequenos mas se somam poderosamente no final. Melhor fazendo, tenho eu aqui a lista dos artigos, pois que eu mesmo os comprei antes para o barão. Passou o polegar sobre as margens dos papéis de uma das pilhas, tirou duas folhas com cuidado para não desarrumar as que ficaram. — Aqui está. De drogas, comprei 320 mil-réis, passei ao armazém 220, compro-te de volta os mesmos 220 por 230. De vinagre, comprei 200 quartas, passei-te 150 para venderes a 230 a quarta, compro-te tudo de volta a 240. De cevada... Concentrou-se longo tempo, de quando em vez deixando a mão repousar sobre a pena de escrever que mergulhara no tinteiro. Emídio, talvez se sentindo zonzo com a velocidade dos acontecimentos, quis falar, levantou um dedo. Sem erguer os olhos do papel onde anotava as mercadorias e fazia contas, Amleto pressentiu seu gesto e o calou com um psiu. — Ah, pronto! — exclamou depois de terminar o trabalho. — Vês, aqui está a lista de toda a mercadoria, com os preços e as quantidades. Isto é o que vais vender à Armação por meu intermédio. Agora mesmo faço um recibo para assinares em nome do armazém, no valor do montante total. E, assim que puderes, o mais tardar pelo meio-dia, manda embarcar a mercadoria para a Armação no saveiro Lidador, que está atracado na Conceição. Minutos mais tarde, assinando o recibo por cima de uma fileira de estampilhas, Emídio interrompeu seu esforço laborioso e voltou-se para Amleto, que, de pé às suas costas, o espiava por cima dos ombros. — Então pagarás agora? — perguntou. — Com esse dinheiro, posso fazer muitas melhoras no galpão, posso cuidar de muitas coisinhas miúdas que venho adiando. — O galpão não precisa agora de melhoras, o que precisa de melhoras é a nossa vida. Não, não te vou passar o dinheiro agora, aliás não pretendo passar esse dinheiro ao armazém. — Mas não compraste a mercadoria em nome do barão e não é dele o dinheiro e não é nosso o armazém? Não percebo como... — Não percebes nada, nunca percebes nada. Estamos em muito boa situação no armazém, lá não necessitamos de dinheiro agora, essa mercadoria não nos custou nada, não há despesas que ela tenha acarretado. Portanto, esse dinheiro há que ser usado de outras formas, em nosso benefício. — Que outras formas? — Se não entendes a mais singela e elementar transaçãozinha comercial, como queres entender de altos negócios? Isto resolvo eu, deixa estar. Quando te arranquei da roça e da sachola para pôr-te à frente de alguns negócios, não esperava mesmo que pudesses ter tino para altas questões de finanças. Anda, pronto, já está tudo acertado, não sei por que ficas aí parado como um parvo, fecha a boca, homem! Anda, vai, despacha-te! Ou não tens nada a fazer? Que estás esperando? — Mando-te cá o fiscal, então? — Manda-o cá. Pronto, vai, Deus te leve, vai.
E, assim que fechou outra vez a porta, quase batendo-a na cara de Horácio, correu para a escrivaninha, puxou as gavetas do segredo com as mãos trêmulas. A terceira de cima para baixo até o meio, a quarta até o fim, agora a primeira até o fim, a segunda até o meio. Afrouxou-se a caixa de madeira lavrada que parecia parte do frontispício do móvel, Amleto girou-a com um pequeno solavanco, virou para si o lado aberto, puxou de dentro dela um bauzinho de ferro e bronze. Apanhou uma chave na primeira gaveta, a outra no bolso interno do casaco. Pareceu à beira de desesperar-se, quando, apesar de fazer caretas e suar, não conseguia que a segunda chave girasse. Parou um momento, abanou-se com as mãos, enxugou a testa, fez nova tentativa e desta vez ela rolou macia, a fechadura estalou, o baú se abriu, deixando pular para fora as pontas de algumas das notas novas de dez e cinquenta mil-réis que estavam comprimidas dentro dele. Amleto levantou completamente a tampa, uma aragenzinha vascolejou as notas. Olhou o recibo deixado por Emídio, colocou-o debaixo de uma das quinas do baú e contou as notas maiores. Decidiu que mesmo as de cinquenta talvez lhe fizessem volume demasiado na algibeira, revolveu o baú, sacou do fundo um maço de notas de quinhentos e de conto, desatou o fitilho que as amarrava, cheirou-as com dois ou três sorvos profundos e, contando em voz baixa, separou a quantia indicada no recibo. Hesitou sobre que algibeira usar, terminou dividindo tudo em quatro partes, duas para os bolsos da calça, duas para os bolsos internos do casaco. Tinha agora que fechar o baú e pô-lo de volta no cacifo, mas se deteve ainda algum tempo, olhando o dinheiro que sobrara. Finalmente, quase relutante, fechou-o e cumpriu de volta os passos do segredo. O frontispício do móvel tornou a apresentar-se sólido e inteiriço, as gavetinhas retornaram a suas posições de sempre, os puxadores redondos e pretos brilharam como olhinhos vivos. Sentou-se à escrivaninha, apalpou as saliências macias feitas pelas notas sob a roupa, demorou muito assim, recostado na cadeira, o pensamento distante e a visão perdida à frente.
Armação do Bom Jesus, 24 de agosto de 1827.
Sentados no batente da porta dos fundos da casa do sítio, Budião e Feliciano estavam duvidando que Merinha viesse junto com a comitiva do barão. As negras de copa da Armação eram outras que não as da cidade e, se bem que algumas, como a própria Merinha, se agregassem às comitivas de vez em quando, o mais comum era que ficassem, já que dependiam da opinião da baronesa, a qual mudava como o vento. Neste caso, já tão perto da vitória, pois imaginavam que os venenos, a esta altura, estavam chegando ao ponto máximo de sua ação persistente, viam que ela podia fugir de última hora, não havendo na Armação quem pudesse prosseguir no serviço que Merinha vinha fazendo com tal eficiência que as notícias da moléstia do barão chegavam várias vezes por semana à Armação, muitas delas já o desenganando, algumas o dando mesmo por morto, embora desmentidas em seguida. Ainda mais, disse Budião dando tapas de exasperação nas pernas, que mestre Júlio Dandão também não soubera responder, quando lhe perguntara sobre Merinha. Mas — ponderou Feliciano, a ânsia que lhe vinha pela falta de fala fazendo com que chorasse —, já que esse grande Júlio
Dandão se revelara tão estranho, não poderia ele sugerir alguma coisa? Como seriam derrotados depois de tão bom encaminhamento, tão auspiciosa condução do plano por que tantos anos tinha esperado em vão, fiados apenas numa justiça dos fados de cuja existência nunca se podia ter certeza? Ah, talvez, ah, não sei — respondeu Budião, e se levantou para andar um pouco. Quem podia, com certeza, dizer alguma coisa desse Júlio Dandão, quem podia confiar em quem quer que fosse, nesta vida coalhada de armadilhas? Não sei, acho que não, disse, esmurrando os caules das bananeiras. E não podia mesmo existir preto mais misterioso do que esse Júlio Dandão, mestre do saveiro Lidador, tudo nele parecendo segredo ou disfarce. Gostava de couro de carneiro, andava com um às costas o tempo todo, enrolava-se em outro quando se entocava na tolda do barco para dormir. Quase não falava, mas não era boçal, era ladino, sabe-se lá, era até talvez crioulo, sabe-se lá, ele não dizia nem era perguntado. Escuro, escuro, roxo mesmo, desses cujo pretume confunde as vistas e mistura os traços na sombra, o nariz um galho gordo e recurvo crescendo no meio do bigode enramado queixo abaixo, sob um chapéu gamela cor de fuligem carregada, preso num barbicacho de couro de bode preto trançado. Se chovia ou chegava a frialdade do meio do ano, envergava japona de pano de felpa com todos os do mar e botava carapuça grossa na cabeça, tudo porém por cima das vestimentas folgadas que já tinha no corpo, ficando ainda maior e mais corpulento, à noite só se enxergando dele o vulto enorme e, no rebrilho passageiro de um fifó, o claro dos olhos e do palitão de pau branco que não tirava do canto da boca. Seu nome indicava os mais poderosos pesadelos, não se desconhecendo tampouco que ele nunca se benzeu uma só vez na vida, nem nunca respeitou qualquer cruz, por demonstração que fosse. Caladão, os olhos pregueados, a boca crispada, os dentes grandes estufados, as maçãs do rosto altas, o riso difícil, talvez fosse negro jeje, negro mina dos brabos que não faz fé em pessoa nenhuma, estúpido feito um cavalo, pescoço grosso, braço comprido, disposição para meter o coice no primeiro. Podia ser achanti, quem sabe, podia ser até hauçá papa-arroz, negro fon, negro bariba ou somba, dos confins benins do Daomé com o Sudão, qualquer dessas terras do grande rei Abomei, o que mandava à guerra tropas de mulheres assassinas. Não comia porco, não gostava de cachorro, não falava nem olhava para cara de mulher na rua, vai ver que era negro malê, de juízo enigmático, tão cifrado quanto suas placas e papéis escritos em desenhos iguais a vermes, folhas e foices, de que se dizia serem tão potentes quanto o veneno da planta espirradeira. Seu nome, também se dizia, mudava às vezes para Vodunô e as cobras tinham uma certa parte com ele — talvez por via da falada cobra Dã, a cobra Dang-Bê, a cobra Dangue, a cobra Obecém, a cobra Oxumaré do arco-íris? Podia muito bem ser, podia também ser muitas outras coisas e não ser nada disso. Foi por essas razões que Budião estranhara muito quando, sem quê nem para quê, Júlio Dandão fizera sinal para ele na hora em que o saveiro estava para atracar no cais da Armação, ontem mesmo. A carangueja ainda não tinha terminado de rolar pelo cordoame da mastreação abaixo, não havia nem distância para os moços de bordo jogarem os cabos das amarras aos negros que os aguardavam, quando, com uma mão no frade de boreste e outra ajudando a livrar uma corda presa ao pau de traquete, Júlio Dandão levantou os olhos, viu Budião, soltou a mão da corda e a espalmou como quem pede para esperar. Que poderia estar querendo? Budião não tinha notícia direta de ninguém que tivesse conversado com esse mestre Júlio, o
qual, quando estava aqui, nunca saía do saveiro, passava o tempo todo dentro da tolda, abanando o borralho aceso para assar ou defumar pescado, ou senão remexendo por dentro das cavernas do barco sem parar. Que podia ser? — pensara Budião, enquanto, deslizando leve, o saveirão bordejou amainado o molhe, chegou ao ponto de atracação e se deixou amarrar como um grande peixe manso. Apesar do sinal, Budião não podia esperar, porque Almério já tinha visto que havia muita mercadoria dentro da embarcação e começava a gritar com os negros para que se mexessem, tinham de carregar aquilo tudo para o almoxarifado. Dandão tirou uma pilha de papéis de dentro de sua bolsa de couro, entregou-a a Almério por cima da borda do saveiro, viu Budião em pé junto ao feitor, mas não disse nada. Apenas Budião achou, pelo jeito com que baixou e levantou a cabeça quase imperceptivelmente, que estava dando a entender que confirmava o sinal feito de longe, Budião podia ir cuidar de seu serviço e, na primeira oportunidade, falariam. Já não estava tão claro quanto antes, na hora em que Budião foi para o atracadouro, não só porque o trabalho de descarga era muito, como também porque algumas nuvens pretas se juntavam ali pelo noroeste, escondendo o sol que já descia. Calor grande, pensou ele, os passarinhos quietos, a morcegada voando baixo, muita barata e mosca procurando abrigo nas casas, bichinhos grudando na pele das pessoas. Mas com certeza logo ia descer um nordestezinho fresco para soprar as nuvens para algum lugar distante e, além disso, o calor devia ser mais do repuxo de tanta carregação, porque Almério, talvez por falta do que fazer, falta de com quem gritar, resolvera aproveitar para mandar fazer uma porção de serviços no almoxarifado. Já do alto do molhe, Budião podia ver a pele de carneiro de Júlio Dandão movendo-se na escuridão da tolda do saveiro, como um fantasma numa gruta. Chegou mais perto, a pele agitou-se pesadamente, Dandão emergiu lá de dentro, parecendo que nunca ia conseguir terminar de pôr o corpo inteiro para fora. A fumaça do fogareiro, que se filtrava pelos espetos de peixe miúdo dispostos acima na forma de pequenas esteiras, enrolou-se por suas pernas, subiu à sua frente e lhe envolveu a cabeça. Budião parou um instante, achou que ele era mesmo uma aparição, seu nome de sonho mau muito justificado. Mas não havia de ter medo dele, afinal, fosse o que fosse, era apenas um homem e o fato de ser liberto não o livrava de ser preto como ele. Retomou a marcha pelo molhe, chegou à borda do saveiro quase encalhado na maré baixa, preparou-se para pular e Dandão brotou de repente diante dele, com a mão estendida para ajudá-lo a entrar no barco. Passaram muito tempo acocorados e silenciosos à frente da toca do mestre, o cheiro de xangó defumado engordurando o ar agora parado, talvez até mais quente do que antes. Dandão esticou o braço, apanhou um alguidar pequeno, cheio de farinha e pedaços cinzentos de carne de sol de carneiro. Estendeu-o a Budião, manteve o braço retesado até que achou que o outro não queria comer aquilo. Engatinhou para a trempe de defumar peixe, apanhou um espeto, mostrou-o a Budião. — Hum? — ofereceu. — Hum? Budião, que não tinha tocado na carne porque não chegara a perceber o oferecimento, tão absorvido que estava por outros pensamentos e por aquela embarcação mágica em que nunca tinha entrado, despertou quase espantado, tomou o espeto, arrancou cinco xangós com os
dentes, devolveu o espeto. Dandão também mordeu uns peixinhos, voltaram a ficar quietos, mastigando em silêncio. Mas Budião, já menos encantado, quis perguntar para que seria aquela conversa tão inesperada. Ensaiou a pergunta na cabeça, achou várias vezes que ia começar a falar, desistiu todas as vezes — não seria uma ofensa, falar antes do dono da casa? Mas não precisou preocupar-se com isto, porque Dandão, depois de jogar um punhado de farinha na boca e limpar os bigodes com as costas da mão, acercou-se para conversar. — O barão, teu amo, vem amanhã — disse com a voz muito clara, não o grunhido roufenho que Budião tinha antecipado. — Vem amanhã? Então vem amanhã? Já teve cura assim, vem amanhã? — Não, não é da cura, é da piora. Vem para mudar os ares. Está muito mal, deve morrer. Budião assustou-se, sentiu o rosto esquentar. Por que Dandão tinha falado assim, nesse jeito de cumplicidade? Que arapuca estavam armando, que mistério era esse? Cerrou os dentes, ficou muito sério, não iria admitir nada. — Coitado do barãozinho, nhozinho vai morrer? Dandão encarou-o longamente, a expressão curiosamente divertida, parecendo até que ia sorrir. Pôs-lhe a mão no ombro, apertou-o. — Tu não precisas dizer nada — falou. — Eu sei. — Sabe do quê? Eu não sei de nada. Tu foi que me chamou aqui, tu que queria me falar. Dandão, sem se levantar de todo, andando como um macaco descadeirado, foi até a tolda, abriu um saco encardido, tirou dele dois molhos de ervas, tentou passá-los a Budião, que apenas os olhou. — Que é isso? — perguntou, cruzando os braços. — Toma. Pega, toma, são as mesmas que tu colheste e que agora não sabes mais colher. Toma, talvez precises delas. — Não sei o que é isso. Preciso disso para quê? — Se Emerenciana não vem, se não traz as folhas, como é que fica a situação? Budião se confundiu, não conseguia resolver o que faria, o que diria. — Hoje por sinal é véspera de São Bartolomeu — continuou Dandão, depositando os dois molhos de ervas junto a Budião. — Amanhã é São Bartolomeu, o barão vem nesse dia, é bom sinal. Budião passou a olhar para lá e para cá, dos molhos de ervas à figura calma de Dandão. — Eu mesmo não cuido dessas coisas, não assim — prosseguiu Dandão. — Mas tu sabe que, para aceitar o animal que se abate para ele, esse santo manda primeiro cortar a língua desse animal? Só aceita com a língua cortada. Budião arregalou os olhos. — Só com a língua cortada — repetiu Dandão. Mas, mas como tudo isso? Que sabia ele, quem lhe havia contado essas coisas, como sabia de Feliciano, fazendo aquela alusão a línguas cortadas? Quem lhe havia contado, que bobagens tinha inventado Merinha, aquela desmiolada sem juízo?
— Não é desmiolada, nem sem juízo. Ela sabia que podia me contar, sabia que devia me contar. — Por quê? E por que sem me dizer nada, eu podendo até... — Porque não interessa. Eu também quero que ele morra. — O barão te fez mal? — A mim, eu mesmo, não. Toma, pega as ervas, vai fazer teu trabalho. — Mas como? Como é que vou fazer isso? — Sei que é difícil, mormente se Merinha não vier junto com a comitiva do barão. — Ela não vem? Sabes se ela vem? — Não, não sei. Não sei. Possa ser que venha, sempre possa ser. — E se não vier? — Vais desistir, agora que já estás tão perto? — Não, mas não é caso de desistência, é caso de não poder. — Não, vai poder, vai poder, sim. Vai poder. — Vai poder, como? Isso é que eu não sei. Vai poder, como? É só falar? — Vai poder — respondeu Dandão muito convicto, e levantou-se como se estivesse dando as despedidas. — Leva tuas folhas, põe os dois molhos por baixo do camisu, enfiados no cós do calção. Sem falar mais nada, andou para seu buraco, enroscou-se lá dentro, embrulhou-se na grande pele de carneiro que o esperava e desapareceu gradualmente no escuro. Budião permaneceu parado, olhando para a tolda com as vistas apuradas. — Anda, vai — disse lá do fundo uma voz desencorpada. — Vai trovejar daqui a pouco. Na volta ao telheiro, mal pôs os pés na praia, Budião sentiu os primeiros pingos da chuva grossa que começara a desabar. A noroeste, bem onde as nuvens haviam começado a juntar-se, só existia uma massa farrusca impenetrável. A princípio num ronco distante, depois cada vez mais perto, abriu-se a trovoada, salpicando o céu de fagulhas e fazendo o chão estremecer. Como uma faca garranchuda, um raio faiscou no centro do bolo de nuvens, hesitou antes de libertar-se e, subitamente, cortou toda a extensão das nuvens à praia com um estrondo jamais ouvido, o próprio firmamento parecendo haver despencado, um céu de metal pesado e pedras colossais. Budião se encolheu embaixo do telheiro, ofuscou-se quando o raio mergulhou no mar e depois dessa luz deslumbrante não mais voltou, deixando por ali somente aquela escuridão sólida e o estrépito da chuva invisível que, mesmo aparada pelas telhas, respingava-o como se quisesse mostrar que sabia onde ele estava. Isto mesmo recordou em companhia de Feliciano, convencido de que alguma coisa fora do comum estava realmente acontecendo, alguma coisa em que não podiam pôr as mãos, nem podiam entender. De qualquer maneira, o barão ainda não tinha chegado, era muito cedo, só podiam saber se ele vinha mesmo depois de o sol estar mais ou menos alto, não assim a esta hora da manhã, o terreno ainda lamacento e marcado pela chuva que durara quase a noite toda e chegara a acachapar as ramas de abóbora e melancia, chegara mesmo a desenraizar algumas árvores pequenas. Os molhos de folhas, apertados em outras folhas, de taioba e bananeira, para não se molharem, estavam escondidos no oco de uma embaúba perto da
capoeira, onde ninguém as acharia nem iria procurá-las, desafiando as formigas pretas e quase mortíferas que lá moravam. E Merinha, Merinha certamente viria, claro que viria. Mas Budião repetiu isso sem fé e o outro não quis ir com ele para o ancoradouro, esperar o barco que trazia o barão. Tinha o trabalho da casa do sítio, a capinação da grama pé-de-galinha que brotava todo dia entre os canteiros, os viveiros de couve, repolho e pimentão para semear, as mudas de batata-doce para cuidar, as árvores de frutas, os jegues e as mulas, a roça de mandioca, não podia sair dali, era o destino dele, deixasse isso para lá — e, afinal, pelo menos o barão já tinha sofrido um bocado, já houvera uma satisfação, essa era que era a verdade. Budião, contudo, sabia que era mentira de Feliciano, o qual apenas disfarçava o medo de que Merinha não viesse e nada mais pudesse ser feito, tratando logo, pois tinha hábito e prática, de resignar-se. A sumaca Flor dos Mares já tinha deitado âncora ao largo por causa da maré baixa, a primeira viagem do batel já se completara e Budião, sem conseguir deixar de andar para cima e para baixo esfregando as mãos na nuca, não conseguia divisar lá fora nenhum vulto de mulher que não o da baronesa. Na primeira viagem, desceram somente o piloto e dois remadores, que traziam as instruções para receber-se o barão. Arejassem a casa, mudassem a roupa de cama, pusessem água nova nas talhas, avisassem às negras que não fizessem barulho, juntassem uns quatro negros parrudos para transportar uma boa cama à praia, a fim de que nela o barão fosse carregado do bote à casa-grande. — Nego Budião! — chamou Almério. — Anda, vem cá, tenho serviço para ti! — Tou no carregamento de lenha da tanoaria — disse Budião, sabendo que não devia ter falado assim. Almério de fato não gostou da resposta, correu até ele, sacudiu-lhe o rebenque diante do rosto. — Te perguntei alguma coisa? Te perguntei alguma coisa, moleque ousado? Te perguntei alguma coisa, moleque safado? — Não, Iô. Mas é porque mestre Zé Pinto me disse que era para não deixar de carrear a lenha toda hoje, que senão não ia poder aprontar os arcos da cascaria nova, não ia poder fazer calafetagem, não ia dar vencimento nem nas duas tinas. — E desde quando recebes aqui ordens do Zé Pinto? De quem recebes ordens aqui? Anda, diz, de quem recebes ordens aqui? — De nhô mestre feitor Almério. — Então, lorpa safado, negro debochado desassuntado, pedaço de lodo preto, então? — Nhô sim. — Vai chamar Sabino, vai chamar Jacinto Curió, Roque Quebra-Ferro, chama Silvestre ou Dionísio, chama Astério, vai, traz-me aqui uns cinco negros dobrados e vai à casa-grande buscar uma cama, que deve esperar aqui o desembarque do senhor barão para que seja levado ao quarto dele. Anda, vai! Vai e depois te apresentes a mim para que eu te diga o que vou fazer para compensar tua insolência, já te mostro como se trata a escravatura na minha lei. O barão desembarcou carregado, logo depois da baronesa, que de tão atarantada chegou a molhar a barra da saia na água, enquanto desferia instruções nervosas. — Ai, que fazem, não veem que assim o destroncam, assim o matam de vez? Que estão a fazer agora,
Senhor meu, e ainda me trazem esta enxerga imprestável para transportar o senhor de todos vós? Se não há gratidão, haja ao menos tino e expediente! Devagar, que já rola para fora do leito, ai, que fazem, devagar, devagar, devagar! Não, não posso ver, não posso ver, ai Deus que do alto a tudo contemplais com vossas bênçãos, tende misericórdia desta vossa filha que já sente a alma esvair-se de tanto sofrimento, ai pobrezinho, cuidado, cuidado! Mas o barão apenas movia os olhos salientes e babava um pouco, a boca entreaberta, os lábios amolecidos. A uma pergunta carinhosa da baronesa — hem, filhinho, diz-me lá se queres alguma coisa, estás melhor, filhinho? —, sussurrada para que os serviçais não vissem tanta intimidade e pronunciada com uma mão no peito e outra na testa do doente, o barão persistiu na mesma expressão vazia, não fez um som, somente o lábio inferior tremeu languidamente, logo pendeu de novo. — À casa, à casa! — comandou a baronesa, lembrando a estampa de fortaleza e resignação que o pai ostentara quando a mãe morrera e se determinando a reproduzi-la. Ergueu a cabeça, passou a mão nos cabelos que lhe saíam debaixo do chapéu, apertou a boca, empinou o peito e, fazendo só um intervalo como quem arregimenta forças das últimas reservas, gesticulou com energia. Vamos, vamos! Os negros içaram a enorme cama de cedro e marcharam, oscilando como uma tartaruga no meio da desova pela praia e caminho acima, em direção à casa-grande, Budião pensando que não devia ter tentado evitar aquele serviço, o que agora lhe valeria talvez uma surra, e que, mesmo ali, perto da sumaca fundeada, não conseguira ver Merinha. Ela não viera, porque, desafiando as ordens de Almério para que se apresentasse logo depois do serviço de carregar o barão, voltou para a praia e esperou que desembarcassem todos, desde o cirurgião Justino José, todo de preto e grudado obstinadamente a uma maleta preta, às negras e a marinhagem. Quase perguntou a um deles se por acaso não chegara também uma mucaminha alegre, de dentes lustrosos, rosto redondo e olhos sorridentes, de braços roliços e trejeitos sestrosos, que achava graça em tudo, uma que andava sempre perfumada a capim-de-cheiro, que andava sempre como se dançasse, uma que, por mais que passasse o tempo na cozinha no meio de panelas gordurentas, sempre saía de lá fresquinha, fresquinha? Sem querer, porque não podia e o momento era de preocupação, pensou em como tinha se chegado a ela, como tinha somente jogado um cheiro de longe — uma coisa ligeira, uma franzida de nariz, uma fungada breve, uma levantada ousada de ventas, de ombros e de queixo — e depois ela o recebeu de noite como se sempre tivesse sido e sempre tivesse de ser assim, o regaço dela parecendo que sempre estivera ali, aquilo um belo ninho, aquilo o lugar perfeitamente encaixado para ele, aquilo um abrigo, não sabe? Pois de que se gosta, numa mulher? Difícil dizer, há os que gostam das de cabelo mais comprido como o das índias, outros de umas que têm os quartos grandes, outros de umas que afetam um certo pisar, outros de umas que têm os traços desafiantes, outros de umas que são caladinhas e encafifadas e, naqueles calundus fechados com que amanhecem, prometem ser mulheres tão danadas que matam um homem na cama, outros de umas que somente obedecem, e por aí vai, tarará-tarará, para cada um existe uma, mesmo que nunca apareça. Então não sabia, mas sabia da especialidade dessa Merinha, talvez a especialidade do riso dela, talvez a especialidade do jeito de ficar quieta de repente, talvez a especialidade dos cabelinhos que podiam ser vistos
nos braços dela e adivinhados nas partes mais secretas das coxas, talvez a cara brincalhona com que enfrentava as piores situações — qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, coisa de atração mesmo, coisa de tesão, coisa de não saber que coisa é —, onde estava Merinha, a doce envenenadora do barão, a sua Merinha? A Merinha que nem dissera nada quando lhe pedira para aplicar as ervas e folhas, que as pegara e somente confirmara — esta daqui em pó, esta daqui fervida. Merda, bosta, putamerda, pensou Budião, achando que sofria mais por não ver Merinha do que por ela não estar ali para a missão agora falhada, teve até um pouco de vergonha. Vergonha essa que lhe deu uma certa fraqueza, quando, conversando com Zé Pinto, mestre tanoeiro, pardo de fala macia, afogado no meio de suas pencas de malhos, seus formões, suas mós de variados veios, suas enxós, seus chaços de apertar arcos de barricas, suas seguras, seus tornos, seus piches, breus e alcatrões, seus mares de estopa de linho, seus repuxos e saca-nabos, seus trados de furo, sua bigorna, seus mil bagulhos de tanoeiro, pediulhe que confirmasse a história da lenha. Não queria apanhar, ainda mais em dia enervante como este, e achava que Almério ia bater nele. Porque tinha querido evitar o serviço de carregar o barão, não pelo peso mas pelo barão mesmo, inventara aquela história e Almério ficara com muita raiva, parecia mesmo estar num desses dias em que, antes de tomar banho e comer, espancava um preto atrás do outro. Da-da-da-da, trauteou Zé Pinto, como sempre fazia para tranquilizar as pessoas, mesmo quando não havia razão para tranquilidade. Da-da-da-da, vexe-se não, disse Zé Pinto, já se preparando para argumentar que Almério estava ocupado demais com as instruções da baronesa para se lembrar daquela besteira, quando sua vista se desviou para trás de Budião e sorriu sem mostrar os dentes. — Tem gente aí — disse, apontando com o queixo para a entrada da oficina. Budião virou-se, viu uma figura silhuetada contra a luz da porta, não quis acreditar. — Eu vim no Lidador — disse a figura, e Budião teve certeza, pela voz que lhe fazia tanta falta, de que era mesmo Merinha ali chegada, e aqui vinda por querer falar com ele.
Nazaré das Farinhas, 29 de julho de 1827.
Vocês vejam que consumição. O indivíduo se destaboca da Ponta das Baleias para Salinas, Cairu e Encarnação — cada qual com negócios mais amarrados e cheios de nove-horas do que a outra, uma azucrinação mesmo —, arranja uma desgraça de um bote fretado mais caro do que cu de branca no Congo e tome-lhe navegação, Mutá, Matarandiba, Jiribatuba, boca do Jaguaripe, Maragogipinho, tudo um aborrecimento completo. Aí vem a parte por terra, diacho de lombo duro de jegue, arrastando uma moléstia de um jorrão cheio de tralha, cada mato ardiloso que parece inventado pelo Cão, uma mosquitaria da postema, o passadio pior do que o da escravatura, um padecimento só, de cabo a rabo. Aí, chega aqui, mais negócios engrezilhados, uma novidade de exigências, mais gente querendo ganhar dinheiro sem fazer nada, mais gente querendo passar calote, mais aporrinhação. Para completar, agora essa! Agora essa, mas... mas já se viu, mais parece coisa feita, repuxo de atraso de vida mesmo, ave
Maria.
— Caraio! — resmungou Nego Leléu. — Assim não pode! Levantou-se para dar vazão à impaciência, mas não podia andar dentro do espaço minúsculo dos fundos da barraca de verduras. Chutou um tamborete que caiu, apanhou-o em seguida, pondo-o de pé e fincando-o no chão. Muito bem, primeiro chega essa menina Vevé, com aquela cara de porreta, como se fosse muita coisa, como se fosse uma verdadeira marquesa — ora me deixe, uma desgraça duma filha de Cafubá, cativa de merda, mas é cada uma! —, chega essa menina Vevé e diz que o senhor doutor tabelião e escrivão da Provedoria mandou devolver. Mandou devolver como, tu não quis servir o homem? Ah, não sei, eu fiquei lá esses dois dias, aí depois ele apareceu e me mandou de volta, disse que mais tarde vem aqui falar. — E tu me conta isso com essa cara lavada? Tu não sabe o que quer dizer isso? — tinha gritado Nego Leléu. — Quer dizer que ele te devolveu, assim sem mais? E tu não é uma negrinha muito da descarada? O que é que tu fez, o que é que tu fez lá? E agora com que cara eu vou ficar, como é que vai ser? Ela não respondera, ficou calada o dia todo. E não adiantava mesmo que respondesse, até porque não sabia de nada. Nego Leléu, porém, sabia. Sabia que o senhor doutor tabelião João Manoel Augusto Dantas estava esperando uma negra moça, de carne redonda mas não gorda, para tomar conta da casa de Aratuípe — regar a horta, criar as galinhas e receber o senhor doutor, sem mancebia certa mas com regularidade e pouca reclamação. Vida mansa como essa muitas por aí vivem pedindo a Deus e não acham. Então Leléu pensou: pego essa negrinha Vevé, levo para o senhor doutor, ele para de me apoquentar, deixa de querer escarafunchar minhas contas, deixa de querer me botar na cadeia por emprestar dinheiro a prêmio, deixa essa perseguição toda. Pronto, tudo certo, tudo arranjadinho — e agora essa! Será que o homem não tinha gostado dela? Mas como que não tinha gostado, se ela era bem como ele pediu, até mais caprichada, tinha todos os dentes, que ele não exigiu, era asseada, que ele também não exigiu, tinha as pernas grossas e a bunda benfeita, como ele pediu? Então não era essa a questão, a questão era — com certeza, com certeza, corto um braço se não for! — que, chegou lá, ela não deixou o homem encostar, isso é uma negrinha ordinária miserável, isso vale nada, não foi à toa que o barão resolveu dar de graça! — Ah, mas isso não vai ficar assim — esbravejou Leléu e se levantou outra vez. — Ela vai prestar serviço nem que seja debaixo de porretada, ela não me conhece! Saiu da barraca, chamou o negrinho Salustiano, que estava cortando abóbora. — Me compreenda uma coisa — disse Leléu —, me vá ali na casa de peixe, me diga a Mané Mina que me desamarre aquela negrinha que eu truxe e me mande aqui e sem conversa com ela, puxe, vai! Mas, antes de Salustiano passar a mão no pano e sair da barraca, apontou pela beira do trapiche o doutor Pedro Manoel Augusto. — Deixa, deixa — ordenou Leléu a Salustiano. — Depois tu vai, eu te digo. Melhor talvez fazer cara de quem não sabe de nada, pensou, enquanto o doutor Pedro Manoel Augusto, apertando os olhinhos por trás das lunetas e andando em passo apertado, atrapalhado pela barriga em cima de um par de pernas finas, parava onde estava, punha a mão na testa para anteparar o sol e finalmente o localizava junto à barraca. Fez um gesto alegre,
como quem diz “ah, que bom!”, recomeçou a andar. Leléu quis ir até lá, mas ele fez um sinal: não, não, conversamos lá dentro, lá na barraca. — Ufa! — disse, depois que entrou e se sentou num tamborete. — Mas que calor horroroso! Esta época devia ser mais fresca, mas este ano parece que o verão já chegou. Sim, senhor, que calor! Afrouxou o colarinho, deu algumas sopradas pelo peito abaixo, puxou um lenço para enxugar-se. — Vossa Excelência quer que eu mande o negrinho Salu abanar Vossa Excelência um pouco? Pedro Manoel Augusto hesitou, acabou concordando. — Está bem, só um bocadinho. Demorou de olhos fechados, enquanto Salustiano trabalhava com o abano de palha em sua frente. — Ah, que alívio! Aqui, aqui um pouco, abana aqui. Ah! Leléu esperou que ele começasse a conversa, porque sabia que não quereria falar diante do menino. — Pode ir — disse Pedro Manoel Augusto ao menino. — Muito bem, pode ir. O menino saiu, ele olhou para Leléu como quem arruma na cabeça o que vai dizer. — Bem — começou. — Essa menina que você me mandou... — Eu já sube, Ioiô, fiquei muito desgostoso — interrompeu Leléu, contrariando o que havia planejado, porque achou que era melhor defender-se logo, colocar os pontos nos is de uma vez. — Se incomode não, que eu vou pegar ela e... — Não, não, não — disse Pedro Manoel Augusto, agitando as mãos. — Não, tu não sabes. — Ioiô não devolveu a moleca? — Devolvi, mas ela não fez nada. Não foi por causa dela. — Ela não quis servir? — Não, ela não fez nada, nem eu fiz nada. Vê se te calas, se paras com essas gatimanhas doidas e se me escutas, não tenho muito tempo. — Ah, doutor escrivão tabelião Iô Pedro Augusto, eu sei que Iô é um homem fogoso, um homem que não perdoa nada! Quer dizer, quando eu vi a negrinha voltar, eu pensei aqui: quando o doutor botou os olhos, foi logo querendo, mas ela deve de ter se comportado mal, me preocupei logo. Pedro Manoel Augusto ficou contente pela referência a seu temperamento arrebatado, sorriu, apalpou o saco distraidamente. — Pois é — disse com uma expressão evocativa. — Pois é, mas o homem, nesta vida, tem de pensar em outras coisas, a vida não é só essas coisas. — Lá nisso tem razão o senhor doutor tabelião, a vida não é só essas coisas, muito bem dito. — Justamente. Sabes que dia é hoje? — Que dia é hoje? Sei, domingo. Mas não tou trabalhando, tou com a barraca fechada, eu sei da postura, não vá pensar o senhor doutor...
— Não, não me refiro a isto. Sabes qual o santo do dia? — O santo do dia? O santo do dia? Hoje é dia santo? O santo do dia... — Não sabes. O santo de hoje é uma santa, Santa Marta. — Santa Marta... Grande santa, conheço bem, já ouvi falar muito, Santa Marta, todo mundo já ouviu falar, santa muito famosa, grande Santa Marta. É mesmo, 29 de julho, Santa Marta, santa de alto quilate, bela santa. Antão nhozinho é devoto de Santa Marta, muito bem, bonita devoção, Santa Marta assim... — Não, não sou eu quem é devoto dela, é minha esposa, é dona Marta de Betânia. — Iaiazinha doutora tabeliona, mas não me diga! Bela devoção, devoção linda mesmo! Santa Marta... — Deixa de patacoada, negro sonso, não sabias nem que era ela a santa do dia, deixa de ser loroteiro. — Cuma non sei? Cuma é não sei? Santa Marta, grande Santa Marta, recitou Leléu, grande Santa Marta, que ao dragão venceu lá na Província, o qual levou domado, com a Madalena, para os homens matarem e, mais ainda, provar que Deus existe na Sardena. Irmã de Láz’ro, de Betânia, linda terra, onde serviu o Cristo em sua mesa e onde o Cristo chegou a reclamar, de tanta a atenção que devotou essa Marta ao servir do bom Senhor, até mesmo com Maria impaciente, não a Mãe de Deus, mas Maria de Betânia, que era irmã, porém bem diferente, uma contemplando, outra cozinhando, porém Jesus sabia que entre irmãs uma contempla, outra faz cozinha, valendo o que se dá por vocação. Santa Marta, que carrega a concha do feijão, porta a vassoura, porta o espanador, porta as chaves do lar em que labora sem nunca descansar, sendo patrona das donas de casa, das arrumadeiras, das que trabalham sem que acabe o trabalho, das que burnem o chão que todos sujam, das que se satisfazem mui caladas ao ver contentes que não lembram delas os que se lembrariam tão mordazes, se essas coisas todas não estivessem feitas, perfeitamente feitas, todos no lugar,
sendo essa a missão de Santa Marta, de varredura, de forno e de fogão e cosedura e limpeza e arrumação, e essa grande, grande Santa Marta, ninguém alembra; porém, não alembrando, é que se lembra o de que se não lembra e assim se lembra quem não quis ser lembrado, a não ser pela lembrança da boa Santa Marta, de quem só lembra quem nunca foi lembrado.
Pedro Manoel Augusto sorriu, Leléu abriu os braços como um artista de circo que termina seu número. — É, tu sabes alguma coisa dela, sabes mesmo — disse Pedro Augusto. — Embora nesses versinhos de pé quebrado estropiados, vê-se que te ensinaram alguma coisa. És..., és danado, Leovigildo. — Não me ensinaram, Ioiô, eu aprendi, sempre estou aprendendo com as pessoas melhores e os grandes como o senhor. — Muito bem, pois, se sabes tanto sobre Santa Marta, não preciso explicar-te muita coisa. A senhora dona Marta, minha esposa, recebeu esse nome porque nasceu hoje, faz anos hoje. — Ah, Ioiô, é muita ousadia se eu mandar um balaio de frutas frescas para ela? Não tenho muito para homenagear, mas, se vale a intenção... — Não, ela vai gostar, podes mandar, mais tarde tu mandas. — Obrigado, Ioiô. — Sim, mas então, hoje pela manhã, antes da missa, a senhora dona Marta me falou muito da vida de sua santa padroeira e me pediu que lhe desse como prenda aquela que para ela é a mais elevada de todas, como seja uma vida sem pecado. — Mas é fácil! Qual é o pecado de Ioiô, Ioiô não tem pecado! — Aí é que te enganas, tenho-os e não são poucos. Mas fiz a promessa solene de procurar atender ao anseio de minha esposa, ela tem razão. Ela sabe que de vez em quando, eu... Tu sabes o que quero dizer, tu mesmo confirmaste a fama que tenho de femeeiro. — Vixessantíssima, Ioiô, nem me fale! Aqui em Nazaré, diz o povo... Ih-ih! — Deixa de troças, há muito exagero. De fato, às vezes penso que existe em mim como que um impulso viril descomedido, uma potência... Ah, mas vamos deixar isto para lá, isto não te interessa, nem a ninguém. A verdade é que fiz a promessa, fi-la de bom grado e pretendo cumpri-la. — Ora, mas eu estava tanto querendo prestar esse favorzinho ao senhor doutor tabelião, caprichei tanto, tive tanto trabalho para achar uma escolhida a dedo mesmo... O senhor doutor não gostou dela, não achou que é coisa supimpa? Pedro Augusto mordeu os beiços, sopesou o saco outra vez. — Ah, não me fales. Mas promessa é promessa, haverei de esforçar-me por doravante viver uma vida sem pecados, uma vida limpa.
— Sim, promessa é promessa, tem razão o senhor doutor. — E, por conseguinte, se não aceitei a negra nem posso mais aceitá-la, cai por terra o nosso acordo, já não recebi nada em troca de ignorar as tuas transgressões e já não me vale nada correr esse risco. Leléu pôs as duas mãos na testa. — Mas o senhor doutor não me diga uma coisa destas, quer dizer que eu vou certeiro para a rua da amargura? — São as leis, não posso fazer nada — disse Pedro Augusto, em tom definitivo. Mas não se levantou para sair, ficou como se a conversa não tivesse acabado, Leléu compreendeu. — Mas Ioiô, as multas todas, vou ter de pagar as multas todas, vou ter de pagar os alvarás novos, a contribuição... — Que queres de mim? Nada posso fazer, são as leis, as portarias, as posturas, as ordenações... Mas não se levantou, não foi embora, não se mexeu, Leléu quase rezou para conseguir jogar certo. — Ioiô bem que podia ver se não dava um jeito, não podia não? A promessa foi só de não pecar, não foi de não ajudar o pequeno necessitado, que vai morrer de fome se tiver de fazer tanta despesa. — Ora, Leovigildo, isto não é bem verdade, só o que tens de dinheiro emprestado a prêmio por aí, só do que se sabe... — Mas Ioiô, ioiozinho, que bendito dinheiro é esse, umas pataquinhas, uns vintenzinhos, e tudo encalamoucado, esse povo não paga a ninguém, ah se o senhor doutor soubesse como eu sofro! — Está certo, mas de qualquer forma não posso fazer nada. Se queres comerciar, que comercies dentro da lei. Mas não saiu, não se levantou, continuou parado, Nego Leléu resolveu que estava na hora, não podia ser besta. — Mas, senhor doutor, não se pode nem conseguir um abatimentozinho nessa dinheirada toda? — Bem, talvez. Digo-lhe o que fazes. Irás à repartição amanhã, ter comigo. Lá está anotado o valor de tudo o que deves. Farás o seguinte: pagar-me-ás a metade do que deves e esquecerei as multas e as outras coisas. Mas pagas-me em dinheiro, entendido, nada de notas e letras. — Mas Ioiô, ioiozinho, metade? Tudo isso? Não pode ser um pouco menos? Pedro Augusto se irritou, fez uma expressão severa. — Negro Leovigildo, sou um homem sério, tenho responsabilidade, não estou para graças! Consigo cortar a tua dívida pela metade e ainda vens com esta conversa de ratazana! Se não te serve, muito bem, vai pechinchar com a Coletoria! — Não, senhor doutor, pelo amor de Deus, foi só por falar, beijo vossas mãos, senhor doutor, Nossa Senhora do Amparo há de ajudar o senhor doutor por essa caridade, Santa Marta há de estar vendo sua bondade! Amanhã mesmo, cedinho, eu levo o dinheiro lá, como
sem falta, amanhã cedinho! Pedro Augusto levantou-se para sair. Já meio do lado de fora, lembrou o cesto de frutas da senhora dona Marta, observou que não custava fazer a gentileza de mandar pelo menos um toda semana, talvez também um peixinho, hem? Leléu concordou, fez menção de beijar-lhe a mão, ele não deixou e, despedindo-se com um aceno afável, partiu rua abaixo, no andar seguro de quem vive sem pecados. Leléu ficou olhando até ele desaparecer por trás do trapiche, prejuízo desgraçado, peste da miséria, desgraça da peste, caraio! E se aquela negrinha ordinária ainda por cima estivesse prenha mesmo, como Inácia tinha dito? Quando perguntara a ela o que sabia fazer, ela respondera: pescar. Ora, desgraça da peste da merda do cacete, pescar! Olhou a pilha de notas que arrumara em cima de um tabuleiro, pescou a de cima, leu-a devagar. Vencida faz não sei quantos dias. Ah, mas se esse amaldiçoado não me pagar, pensou Leléu, eu vou contar ao padre que ele fornica atrás da igreja com as negrinhas da paróquia, isso mesmo eu vou dizer a ele. Deu um murro no tabuleiro, teve vontade de saber mais palavrões. E aquela estuporada da desgrama, que não lhe resolve nada, sabe pescar! Caraio!
7
Armação do Bom Jesus, 7 de setembro de 1827.
Júlio Dandão parecia que queria matar Budião. Aliás, queria, porque chegou a arrastar um gancho lá dos ocos da tolda do saveiro e ficou como quem vai mas não vai, brandindo-o com força diante de Budião. — Quem devia ter a língua cortada era tu! Budião não disse nada, que é que ia dizer. Nem olhou para Merinha, que também não olhou para ele. Feliciano, fazendo grande variedade de barulhos de garganta, perguntou a mesma coisa que vinha perguntando todos esses dias: — Mas por que é que tu foi fazer isso, que é que te deu na ideia? — Ah — respondeu Budião, procurando onde se enfiar. — Eu já disse, eu não sei, foi uma coisa que me deu. Foi uma coisa que deu nele, podia ser meia-noite, pouquinho menos, pouquinho mais, quando estava dando plantão à porta do quarto do barão. Que por sinal vinha piorando desde que desembarcara, tendo mesmo, segundo se dizia, já recebido de frei Hilário os santos óleos, ninguém esperando que voltasse a falar ou a ter consciência de alguma coisa. Pois nessa hora Budião achou que tinha ouvido um gemido dentro do quarto e entrou. Quando entrou, embora lhe tivesse sido proibido levar para lá vela ou lamparina, conseguiu ver claramente, na luz da lua que se esgueirava entre as juntas das cortinas, que os olhos do barão estavam abertos. Abertos e vivos, não rolando destrambelhados como antes. Teve certeza de que ele podia ver e ouvir, talvez pudesse até falar. Aproximou-se da cama, cochichou: — Chamou, Ioiô? Perilo Ambrósio conseguiu mover o pescoço, olhou para ele. — Chamou, Ioiô? Os olhos de Perilo Ambrósio se esbugalharam mais, a boca se moveu fracamente, articulou um balbucio incompreensível. — Sinhô, Ioiô? Mas ele não conseguiu fazer mais nenhum som e foi então que deu a coisa em Budião. Chegou o rosto para perto do barão. — Nhô tá escutando, nhô tá? Tenho um segredo pra contar a ioiozinho. Não podia falar alto, era obrigado a cochichar, mas tinha certeza de que o barão escutava tudo, estava escutando tudo e estava com medo! Budião retorceu os beiços, esticou a língua, arreganhou as ventas, fez a careta mais feia que pôde, aproximou-se mais, o barão derretido de pavor. — Cão dos infernos! — roncou Budião. — Tu vai morrer! Tu vai morrer, Satanás! O barão estremeceu, fez um esforço inútil para afastar o tronco, quis fechar os olhos e não pôde.
— Tá com medo agora, desgraçado, condenado! Isso é pelas malvadezas que tu fez, pelas línguas que tu cortou, pela morte de Inocêncio, por tua perversidade e por ser quem é. E te conto mais, viu, infeliz, desgraçado, quem te matou foi eu, foi esse nego daqui que te matou! Aaarrr, vai morrrreeer, vai morreeeeer. Teve dificuldade em parar, achou até que ia acabar de assassinar o barão naquela hora, mas terminou voltando para a porta e se arrependeu instantaneamente — jurava, jurava por tudo que se arrependeu logo, foi uma coisa que lhe deu. E se o barão melhorasse, como tinha acontecido ainda no próprio dia de São Bartolomeu, quando ele falou, deu ordens, fez uma porção de coisas? Que vida passaram a ter depois dessa imprudência louca, dessa maluquice despropositada, verdadeira traição, que vida! Agora, cada vez que um deles era chamado, vinha um frio ao coração, a certeza de que era o barão convocando-os para a vingança — e que vingança não seria! Todo dia aquele sofrimento, perguntas furtivas às negras da casa — ele falou, o barão falou? E os momentos tão longos em que passava lá dentro somente o cirurgião, às vezes o padre e a baronesa, como saber se o barão falara, se dera alguma indicação? Aflição insuportável, essa, a ponto de se desconfiar de todo olhar, de todo gesto, de tudo em redor. E por quanto tempo ainda, por que eternidade, não teriam de aguentar aquilo, até o dia em que o barão morresse? Ou não morresse, ninguém podia garantir que morreria, pois, apesar de Merinha ter sido trazida no dia seguinte à vinda do barão, por ordem da própria baronesa, que gostava de seu serviço, e ter continuado a dar as ervas com aplicação, ninguém estava seguro de nada, afinal havia também as forças da Medicina lutando contra, e nada no mundo é certo certíssimo. Eram culpados, eram conspiradores, iam morrer morte lenta e judiada. Budião reiterou que não tinha falado no nome de ninguém, tinha somente dito que fora ele o responsável por aquela agonia, não conseguira resistir, não chegara nem a pensar. E, mesmo que o prendessem e o pusessem sob os piores suplícios, não iria contar coisa nenhuma, morreria calado, não tinha medo de dor. — Besteira — disse Júlio Dandão com rancor. — Todo mundo fala, não existe esse bom. Em qualquer lugar, em qualquer guerra, isso que tu fez é caso de forca, forca sem conversa. — Mas aqui não é guerra — argumentou Budião. — E eu... — Aqui é guerra — disse Dandão. — É guerra e eu te digo uma coisa: se o barão te pegar e não te matar, quem vai te matar sou eu. E sangrado, igual a Inocêncio. Por que tu não te matas logo? Manda a vergonha que te mates. Já era madrugada e daí a pouco ia clarear. Dandão se levantou, puxou as pontas da pele de carneiro sobre o peito, caminhou devagar para a tolda, ficou invisível lá dentro. Budião também se levantou, foi bater a mão no bordo do saveiro, de cabeça baixa. — Ora, também — disse a Merinha, que tinha vindo para junto dele. — Também não sei por que ele faz esse alvoroço todo, não sei o que é que ele tem com isso. Se alguém tinha de estar zangado, era Feliciano, isso foi a praga dele primeiro e depois nós que se juntamos para fazer, ele não tem nada com isso, esse Júlio Dandão. E, se alguém tinha de estar zangado por falarem, esse alguém também é eu, porque tu mesmo foi dizer a ele, só assim que ele podia saber.
Merinha então lhe contou toda a história desse mistério, o qual, em primeiro lugar, era que o negro Inocêncio era filho de Júlio Dandão, filho escondido, malocado, mas que sabia do pai. Quando Inocêncio vivia sob o poder do velho Farinha, pai do barão, Dandão sempre pudera, de um jeito ou de outro, ajudar o filho e lhe passar o conhecimento de seu povo e de sua família, sendo esse Júlio Dandão homem de grande consideração entre os de sua nação e esse Inocêncio seu único filho. Depois que o velho Farinha dera Inocêncio a Perilo Ambrósio, Dandão deixou de poder vê-lo, mas sempre sabia dele, pelos dois ou três que partilhavam do segredo. Vinha esse Júlio Dandão também juntando o dinheiro que ganhava e algum que aceitava de doações de outros para comprar a alforria de Inocêncio — e aí soube que, em Pirajá, o rapaz havia morrido servindo numa guerra que não lhe servia, pois que de seus senhores contra seus senhores. Mergulhou na maior tristeza que se pode imaginar, pareceu mesmo que nunca mais ia mexer-se, falar ou se interessar por qualquer coisa. E logo soube, por um dos negros que ouviu a história de Feliciano na capoeira, como tinha realmente morrido seu filho. Um filho — explicou Merinha — não pode morrer antes do pai, não existe caso de pai que não enlouqueça para sempre quando lhe morre o filho, porque é contra a lei da Natureza e é a pior maldição que se pode jogar. E o autor da morte do filho é o pior inimigo do pai, pois é uma força que sempre o perseguirá e cometeu contra ele essa ofensa primeira entre todas as ofensas, porque a pessoa, daí em diante, não pode nunca jamais ver outra coisa em sua frente senão a Morte. Contou ainda que era sobrinha desse Dandão, muitas vezes tendo ficado em sua companhia enquanto ele chorava em segredo e que, portanto, não havia homem no mundo mais de confiança nem mais merecedor de saber do que se passava, nem com mais direito de agora estar assim alterado pelo risco de o barão vencer — e talvez vencer de uma vez, matando-o depois de matar seu filho, fazendo dele uma pessoa que nunca existiu. Budião baixou a cabeça ainda mais, pensou em morrer, razão tinha Dandão, quando lhe dissera mandar a vergonha que se matasse. Mas não teve nem tempo de ouvir os consolos de Merinha, porque, com a claridade do sol já subindo rapidamente pelo céu, o feitor Almério apareceu no alto da trilha da casa-grande. Budião pulou. Almério não estava olhando para eles, vinha a muita distância ainda. — Tu tá indo pra buscar ovos na casa do sítio, eu vim tomar um banho salgado antes de pegar no trabalho, Feliciano veio comigo — apressou-se Budião e foram tratando de sair do saveiro, sem falar com mestre Dandão. Mas não andaram muito pela praia, porque Almério os viu e mandou que parassem. Caminhou na direção deles lentamente, medindo as passadas e marcando o andar com golpes de rebenque na coxa. Chegou perto, encarou Budião. — Tu, negro ordinário, tu eu acerto hoje, hoje eu te acerto. Budião engoliu cuspe, o gogó subiu e desceu. Almério olhou para os outros. — Todos para a casa-grande, já. — Ioiô Barão chamou? — Cala essa boca! — gritou Almério, e mais uma vez fitou Budião longamente. — Está certo, está muito certo, é hoje que eu te pego, hoje quero ver-te como gosto, foste longe demais!
Apontou para o saveiro, perguntou se Júlio Dandão havia saído de lá. — Então vai lá e diz a ele que é bom que também venha. Um cortejo quase funéreo, em mudez completa pela trilha acima, os cinco chegaram à casa-grande. Sem coragem de olhar para Júlio Dandão, cuja raiva lhe furava as costas e esquentava o ar em torno, Budião no começo teve pânico, podia mesmo ter-se atirado ao mar, como se fosse capaz de nadar até a África ou qualquer outra terra, mas passou do pânico para uma espécie de medo frígido, pontos gelados no corpo todo, os membros meio ausentes, a boca seca, o estômago engrunhido. E eis aí a varanda cheia de gente, praticamente todos os negros da Armação, muitos brancos, aquela conversa mussitada pelos cantos, olhos atentos à chegada deles. Budião sentiu-se perscrutado até os ossos, lambeu os lábios, decidiu manter a cabeça bem erguida. Dandão tirou o chapéu, mirou em frente com firmeza, não se mexeu mais. Feliciano sumiu no meio de um grupo lá embaixo, Merinha se juntou às negras da casa, apinhadas junto à porta fechada que dava para o quarto do barão. Almério se perdeu dentro da casa, o tempo ficou mais moroso do que Budião jamais experimentara, a boca secou tanto que ele pensou que ia engasgar-se. Sem prestar atenção no que fazia, andou até o janelão, que agora se abria, varanda abaixo. Passou por ele, olhou para dentro e só então compreendeu que a rebentina de Almério era por causa da surra que lhe prometera já fazia tempo, não por causa do barão, que finalmente estava ali teso, espichado, morto.
Morte mais linda que a do barão nunca houve nem nunca pode haver. De mortes bonitas é farta a memória do Recôncavo, tantos os santos homens que se defrontaram de maneira edificante com a gadanha da Grande Ceifadeira, assim legando às gerações subsequentes exemplos inesquecíveis do bem morrer. Não há mesmo família ilustre que não se compraza em relembrar as diversas mortes belas que cada uma conta em seu acervo tanatológico, seja pelas derradeiras palavras exaladas, seja pelo manto de doçura e paz a envolver o preciso momento do trespasse, seja pelo estoicismo do moribundo, seja pela venusta paisagem ou especialíssimas circunstâncias a cercar os óbitos repentinos, seja pela comoção do povo nas exéquias — tudo isto fazendo com que, nestas questões letais, não exista no mundo lugar tão ufano. Desde a chegada do barão à Armação para a jornada sem volta, todo pormenor se conjugou harmoniosamente, numa configuração final de inexcedível beleza. Dir-se-ia que o finamento estava muito próximo, mas tal não aconteceu. Embora, depois de acomodado no leito onde ouviria soar a hora fatal, nunca mais tenha saído dele, instantes houve, até dias, em que se refizeram as esperanças dos que o assistiam, alentadas por um sinal ou outro de melhora. Isto mesmo ocorreu no próprio dia de São Bartolomeu, por volta das nove da noite, quando o negro Rafael Arcanjo, dormindo de plantão à porta do quarto, foi despertado por um chamamento sonoro e claro, produzido por um peito que só podia estar sadio. — Negro filho de uma puta, vem cá! — bradou Perilo Ambrósio, e Rafael Arcanjo saltou de susto, pois o barão estivera toda a tarde derreado e mudo, os olhos turvos e sem expressão, a boca amolecida, os braços flácidos, tudo parecendo anunciar o fim, ecoando ainda pelos corredores os lamentos da baronesa e suas negras, os choramingos dos meninos e os suspiros estrangulados de quem vai ganhar um defunto.
— Frigideira de fritar fritura se frege? — perguntou em seguida o barão a Rafael Arcanjo, passando a repetir com insistência essa indagação, chamando o escravo de “Senhor Intendente” e, finalmente, pedindo-lhe que lhe trouxesse o ouvido à boca, precisava fazer uma importante comunicação ao senhor intendente. Tão logo o negro, impressionado pelo tom deferente com que estava sendo tratado, tom que jamais ouvira de ninguém, encostou a cabeça na boca do barão, este lhe abraçou o pescoço e lhe aplicou potentíssima dentada na orelha. Por mais que o negro forcejasse, não conseguia livrar-se nem da dentada nem do abraço, de maneira que logo a casa foi acordada por seus gritos espavoridos, havendo os dois sido encontrados ainda nesse enlaçamento conturbado, o barão respondendo apenas com rosnidos ao que lhe falavam e Rafael Arcanjo berrando como um porco esfaqueado. A baronesa ordenou ao negro que se calasse, afinal via-se que a mordida não devia estar sendo assim tão forte e queriam silêncio para palestrar com o senhor barão, embora ele se recusasse a libertar a orelha que abocanhara, obrigando o cirurgião, com a ajuda de dois negros, a puxá-lo pelos braços e ombros para que finalmente soltasse Rafael, que pulou em direção à porta, a mão na orelha e um fio de sangue escorrendo pela bochecha. — É o que vos digo, senhor intendente — exclamou Perilo Ambrósio com animação. — É o que digo e repito sempre! Açodado pela energia que o inundou, não dormiu mais essa noite. Mandou que lhe pusessem travesseiros às costas, sentou-se na cama, examinou entre exclamações graves os livros de contas da Armação, reclamou da ausência de Amleto, afirmou que o dispensaria na primeira oportunidade, contou longas histórias de viagens e guerras. De manhã cedo, quis comer cuscuz, mas, quando o cirurgião o desaconselhou, conformou-se de pronto. — Então fiambre, uma fiambrada com feijão e frango assado — sugeriu. Ponderou-lhe Justino José que sua conjuntura visceral era ainda merecedora de muitos cuidados e nada recomendava que ingerisse esses alimentos fortes, haveria que resignar-se aos chazinhos e torradas de antes. Não se queixou e, apesar de uma febre que nem o mais severo capitilúvio logrou dominar, adormeceu sossegadamente antes do meio-dia. Antônia Vitória e Teolina acenderam velas no oratório, frei Hilário recebeu instruções para celebrar dez missas em ação de graças logo que se fizesse plena a convalescença. Até as postemas pareciam ceder, agora sujeitas à forte ação exsicante do pó de café fresco que calcavam nelas, tratamento caseiro mas respeitado pela ciência do cirurgião, sempre a frisar o acerto de muitas das práticas médicas populares, a ponto de haver decidido reduzir as lancetadas a no máximo oito ou nove por semana. Mal se sabia que, pela obra insidiosa das Parcas, a doença não esmorecera sua pertinácia, encontrava-se apenas delitescente, solertemente embuçada, pronta para renovar com brutalidade seu ataque. Na manhã seguinte ao que mais tarde se reconheceria haver sido tão só a despedida da saúde, o barão despertou com muitas dores novamente e, apesar de o cirurgião se desdobrar na mobilização de todos os seus múltiplos recursos, nada pôde ser feito para evitar que, dessa hora em diante, o paciente começasse a ter consciência apenas poucos momentos por dia, em certos dias nunca. Mesmo quando tinha consciência, a fala era impedida por glossite tão avolumada que já não lhe cabia a língua na boca e seus gestos voluntários eram prejudicados pela carfologia que lhe tomava conta das mãos, agora
perpetuamente ocupadas em tremer, agitar os dedos e mover-se como se catassem no lençol percevejos invisíveis. Deu para não suportar luz ou barulho, ganindo até mesmo diante das chamas fraquinhas das velas com que procuravam alumiar o quarto encerrado nas trevas abafadas dos reposteiros. Também, nos últimos dias, não conseguia mais mover o maxilar, fosse para falar ou para comer, permanecendo com o queixo rijo, a mandíbula se projetando para fora, os lábios curvados para cima num sorriso empedrado. Igualmente o pescoço e os ombros endureceram, tal a força da congestão visceral que o apertava em seus guantes de aço, cacotanásia impensável e imerecida para aquele que mais tarde a História consagraria como o Centauro de Pirajá, herói da Independência e mártir da Economia. Quis porém a Providência, sempre justa ao intervir no humano fado, que tudo se remediasse com a singular coincidência, quiçá desígnio oculto, de se haver dado o passamento na data em que, fazia exatamente cinco anos, se elevara aos céus o grito inolvidável que abriu ao povo brasileiro os caminhos da liberdade. Porque, neste dia 7, uma sexta-feira ventosa e ensombreada, arfou duas vezes com o peito levitando-se da cama e despencou morto, nem sendo necessário atar-lhe um pano perfumado à queixada, pois seu rosto continuou rocal, um sorriso sardônico esculpido para sempre. Infelizmente, ninguém ficou certo quanto a suas últimas palavras, mas frei Hilário, que esteve junto a ele até o desenlace, anotou as que — claro milagre, para quem já não falava ou sequer via — ele murmurou na escuridão do quarto, a poucos minutos do final: “Pátria, honradez, luta, abnegação. Haverei servido bem a Deus e ao Brasil?” Velado em esplendor na nave da Matriz, seu amplo cadáver ladeado por angélicas cujo recender se entranhava em tudo, foi visitado por uma romaria serpenteada e contrita, dos negros aos homens grados, dos mais altos aos mais humildes, todos parando um instante à borda do esquife majestático adornado de prata e bronze, cônscios de não ser este um dia como outro qualquer. Em discurso breve intercalado por gestos espaçosos, o major Lindolfo Pereira Neves, que, ainda tenente, havia prestado socorro ao barão banhado de sangue em Pirajá, deu testemunho da galanteria lendária daquele pilar da Pátria ali sucumbido à morte física, mas perenizado adamantinamente nos corações brasileiros. Contou como, refeito dos ferimentos mas ainda com a saúde entibiada pelo agoniado triunfo contra a morte, entregavase aos mais rudes deveres, aconselhando, exortando, deliberando, recriminando quando necessário, não se concebendo mesmo que, sem homens de seu quilate, houvera o Brasil afirmado sua liberdade contra a sanha do Madeira. Acrescentou o professor de Gramática Joviniano de Melo Fraga, em discurso, não tão breve, encerrado por um acróstico de decassílabos rigorosamente cesurados, uma exaltação às virtudes cívicas e pessoais do extinto — seu suave semblante sereno saciado da sublime sede do sempiterno servir da Santa Pátria! E muito mais se falou e se escreveu e sempre se escreverá sobre o barão, seus feitos, seu padecimento e sua jornada para a glória, e assim se concluiu todo o mortório, a missa de corpo presente rezada pelo bispo, a baronesa prostrada por oito síncopes em sucessão, o enterramento feito ali mesmo na Matriz, Perilo Ambrósio agora só uma sombra, à tetra beira do Estige.
Senzala grande da Armação do Bom Jesus, 9 de setembro de 1827.
Mas que situação, meu Deus do céu, esta dos pretos de nhô barão Perilo Ambrósio de Pirapuama, todo mundo querendo dar risada mas tendo de fazer estas caras compridas de quem perdeu pai, mãe, irmão, as cunhadas mais novas já no ponto e a última quartinha de aguardente. É como se fosse uma festa ao contrário, uma alegria encafifada em posturas melancólicas, uma música tocando somente na cabeça. E, porque essa alegria não podia aparecer de jeito algum, tornou-se parte da festa exagerar nas expressões de dor, luto, saudade e desamparo, quase todos se divertindo como num baile de máscaras. Uns sempre há para cair num fingimento a mais da conta, como a patusca da negra Esmeralda, que entra na casa-grande com o rosto se dissolvendo de choro e volta para a senzala contendo a custo a vontade de cantar. Fez um bonequinho de capuco de milho, retalhos de brim e estopa, ajeitou nele um chapeuzinho igual ao que o barão usava na Armação e conversava com ele. — Como é que tá por aí, ioiozinho? — Ah inferninho quente danado, ui, ui, ui! — respondia o bonequinho. — Tá queimando onde, ioiozinho? — Tá queimando no meu rabinho, tá queimando na minha culatrinha, ai minha culatrinha! Mas, mesmo sendo domingo e muitos não tendo obrigação de fazer nada depois da missa, podendo ficar ali no pátio conversando ou se ocupando em uma coisa ou outra sem fiscalização, não era conveniente que Esmeralda se arriscasse tanto assim, até mesmo porque as risadas provocadas pela sua conversa com o bonequinho talvez fossem ouvidas lá fora por alguém que não gostasse de ouvir risadas tão poucos dias depois da morte do barão. — Melhor largar esse boneco por aí, melhor lascar — aconselhou Inácia. — Melhor parar com essas troças, isto vai dar mal. — Ah, Inácia, tu vai fazer o axexê de nhozinho-zinho-zinho, vai fazer as obrigações de defunto dele? Não vai. Então? Então deixa que eu faço! Larô-iê! — Qu’isso, menina, isso não é coisa pra fazer graça, cala essa boca! — Pra mim Pai Lírio vai fazer um assentamento de Exu nele, nesse daqui — disse Esmeralda, sacudindo o boneco. — Apois então, Larô-iê, está quase nas horas dele mesmo, quase meio-dia, é ou não é? Estava, sim, quase na hora de Exu, a divindade que come de tudo, porém ele pessoalmente não se vendo ali, apesar da saudação de Esmeralda. Em vez disso, quem apareceu foi Júlio Dandão, em companhia de Budião e Feliciano, entrando pelo portão da praia. Dandão ouviu as risadas de Esmeralda, chegou perto, viu o boneco. — Melhor dizer a ela que pare com isso — falou em voz baixa a Budião. — Por que não diz vossemecê mesmo? — respondeu Budião, muito divertido com o boneco. — Não posso falar assim com ela, pode ser mulher de alguém, filha de alguém, mãe de alguém. — Ah, deixe ela, é que todos tão muito contentes e não podem mostrar, tem de mostrar de vez em quando.
Dandão não gostou da resposta de Budião, olhou em redor como quem pede silenciosamente para alguém interferir. — Esmeralda, vamo parar com isso? — gritou Inácia com severidade. Esmeralda escondeu o bonequinho atrás da saia, ficou envergonhada. — Melhor queimar esse boneco, anda, vai queimar essa porqueira. Ela saiu para queimar o boneco, não sem antes esmagá-lo muito bem pilado no almofariz. Budião sentiu-se um pouco irritado com Júlio Dandão. Afinal tinham conseguido o que queriam, deviam estar satisfeitos, por que aquela cara de Dia de Finados, sentia falta do barão? — Eu não estou satisfeito — disse Dandão, muito sério. — Foi por isso que eu quis fazer essa conversa hoje. Lírio vem? — Lírio não. Vem Zé Pinto. — Ah, bom, Zé Pinto vem. É bom outro negro liberto nisto. Mas por que Lírio não vem? — Disse que não quer saber dessas conversas. — Mas como é que ele sabe o que é que eu vou conversar? Eu não contei nem a ti. — Eu sei, mas ele disse que sabe muito bem que conversa é essa, não quer ter nada a ver com essas conversas. Dandão mordeu o bigode, parou um pouco para pensar, resmungou “tá certo” e perguntou em que lugar iriam conversar. — Aqui mesmo — disse Budião. — Por que não pode ser aqui mesmo? A gente pode entrar numa casa, sentar lá. — Só se eu fosse desmiolado. No telheiro de peixe aparece gente? — Toda hora. — Onde é que não aparece gente? — Todo lugar aparece gente, não tem esse lugar onde não venha gente. Feliciano puxou o braço de Dandão, fez uma pantomima curta. — Que é que ele disse? — perguntou Dandão a Budião. — Ele disse que na casa do sítio não deve ter ninguém, a casa da farinha está vazia e fechada hoje. — A casa da farinha? Na casa da farinha pode ser bom, ele tem razão. — Bom, por mim não faço questão, então vamos. — Não, não é bom os quatro irem juntos. Eu vou na frente, depois vai Feliciano, depois tu vais junto com Zé Pinto. Vai ter logo com ele, anda. Budião estava achando tudo aquilo uma complicação desnecessária e o jeito de falar de Dandão, como se fosse um feitor dando ordens, deixava-o aborrecido. Mesmo ele sendo mais velho e tio de Merinha, isso não estava certo. Já não lhe bastava Almério, que só não o tinha surrado ainda porque não se surra ninguém nos primeiros sete dias de dó? E continuava pensando nisso, já meio disposto a da próxima vez protestar, quando chegou com Zé Pinto à casa da farinha. Parou na porta, não ouviu nada lá dentro. Olhou em torno, somente a roça, os tendais, as galinhas ciscando, os zumbidos dos lava-cus, a escachoada do riacho por trás da touceira de banana. Puxou o cravelho, empurrou a porta
devagar, não conseguiu enxergar bem a princípio, apesar da claridade que penetrava pelos vãos entre as paredes e o telhado. Cheiro de farinha fresca, de mandioca passada, de puba ardida. Budião respirou fundo, sempre gostara dos cheiros da casa da farinha, gostava até mesmo do bafio dos tições amortalhados sob a borralha dos fornos. Apertou os olhos, viu Feliciano postado feito um jaburu, a planta do pé direito colada à coxa esquerda, a mão segurando uma escora da prensa pequena. Defronte, acocorado junto ao engenho de moer, Júlio Dandão, a cara somente adivinhada entre o chapéu e a pele de carneiro que lhe subia pelo pescoço. Fez sinal para que se acomodassem, ia primeiro acender seu cachimbo e pitar alguns momentos. Abriu a barjuleta, tirou dela um fornilho de cachimbo do tamanho de uma mão, um saquinho de fumo de corda picado e uma cana comprida, que encaixou no fornilho. Encheu-o de fumo até a borda deixando as aparas deslizar pelas pontas dos dedos, levantouse, foi até um dos fornos, remexeu a favila procurando uma brasa, encontrou uma grande, soprou-a para espalhar a cinza, trouxe-a para onde estava antes, jogando-a de uma mão para a outra seguidamente enquanto andava. Nenhum dos outros três já vira um cachimbo como aquele, nem mesmo sabiam direito como se fazia para beber a fumaça do tabaco, embora se falasse muito em gente, tanto brancos como negros, que gostava de beber fumo. Não era coisa que se testemunhasse com facilidade, e então ficaram quietos durante todo o tempo que Dandão levou para, depois de assentar a brasa dentro do fornilho e juntar as mãos sobre ela como se fosse tapá-la, sugar repetidamente a ponta da caninha e finalmente cobrir-se de uma fumaça azulada de aroma áspero que lhe saía pelos cantos da boca e pelo nariz, talvez por todos os buracos da cabeça. Como um engenho a vapor, permaneceu solidamente imóvel, soltando fumaça em assopradelas alongadas, volta e meia cuspindo à distância sem mexer a cabeça. Seu rosto agora se descobria um pouco, viamse os olhos injetados e semicerrados, o pensamento em outro lugar. Até que finalmente começou a falar, embora não abandonasse de todo o cachimbo, ao qual voltava de quando em vez, atiçando o brasido com chupadas curtas e enérgicas, até rodear-se novamente de nuvens azuis. Estava diferente do habitual e não só pela fumaça, mas pela expressão menos rude, a fala suavizada, o tom de camaradagem. Ainda assim não era um homem comum, igual aos outros, ainda assim continuava misterioso, mas era como se eles pudessem vir a partilhar do mistério, talvez não agora, talvez nunca, mas talvez sim. Primeiro mencionou Nego Lírio, que não viera porque não queria saber daquelas conversas. — Pode ser que ele tenha olhado nos búzios dele e tenha adivinhado qual ia ser o assunto da minha conversa — disse, uma espécie de riso zombeteiro lhe empenando o bigode. — Então por que não olha nos búzios para ver tudo mais que não se sabe, do passado, do presente e do futuro, para dizer o que fazer ao povo que, quando encontra com ele, faz saudação se ajoelhando e encostando os ombros no chão? Ninguém respondeu e Dandão, como se já esperasse por isso, explicou que pela saudação se conhece o povo e a pessoa e não se pode esperar nada de um povo que, já sendo escravo, rende homenagem a outro escravo com a prosternação de quem oferece a cabeça e o costado para degrau ou capacho. A saudação, disse ele, é necessária, por isso que não há gente que não a faça, pois ela quer dizer que não somos loucos, já que sabemos que não estamos sozinhos neste mundo, vivemos no meio dos outros e só por causa dos outros é que podemos ser quem somos, do contrário não somos; quer também dizer que cada um dos outros
existe, pois, se ninguém saudasse ninguém, todos iam pensar que não existem; quer dizer também que não somos ignorantes, pois há uma maneira própria para saudar cada categoria de pessoa — a criança, o mais novo, o mais velho, a mulher mais jovem, a mulher casada, a mulher mais velha, o pai do amigo, o parente chegado, o parente distante, o oficial do mesmo ofício, o forasteiro e assim por diante —, mostrando-se que não se é ignorante pelo correto conhecimento de todas essas coisas; e quer dizer muito mais, porque através dela podemos demonstrar o que pensamos, o que não pensamos, o que aceitamos, o que não aceitamos, o que respeitamos, o que não respeitamos, bastando somente que a façamos da maneira exata ou a neguemos ou a rejeitemos. Assim, prosseguiu Júlio Dandão, esse Lírio se revelava verdadeiramente um rei de escravos, o escravo-rei com suas saudações que de nada valem, a não ser para confirmar que são todos escravos. E quem permite prosternação diante de si naturalmente também se prosternará diante de outro. E é essa situação que Lírio deseja para sempre, pois que tem até medo de conversar sobre ela, prefere continuar a curvar-se para seus senhores brancos, contanto que seus subordinados pretos continuem a curvar-se para ele. — A nossa saudação — gritou de repente, levantando o punho fechado e esmurrando o ar à frente do rosto — é assim: viva nós! Ah, voltou a falar, tão calmamente como quando começara, então vocês sabem qual é a natureza desse Nego Lírio. Ah, se tudo fosse como devia ser! Mas não é, nada é como devia ser. O que devia ser não é a mesma coisa para senhores e escravos. Sendo nós outros que não eles, explicou, então o que deve ser para nós não deve ser para eles e assim cabe a nós ser o que achamos que devemos ser, porque somente nós é que pensamos que devemos ser isso que queremos ser. E comentou ainda, exibindo os dentes quase alegremente, que no tempo de seus ancestrais se matava gente ordinária para que fosse levar recados ao outro mundo. Alguém havia lembrado de mandar um recado por meio do senhor barão? Podiam ter aproveitado melhor a morte dele. Zé Pinto pareceu atemorizar-se com aquilo, mas Dandão virou-se para ele e disse, como se estivesse descrevendo um acontecimento corriqueiro, que efetivamente tinham matado o barão. Não só tinham matado o barão, como matariam muitos mais barões e fariam outras coisas igualmente portentosas. Observassem bem, não se tratava só de vingança, ia bem além disso, muitíssimo além. Morrendo esses senhores de terras, aconteceriam duas coisas: a primeira era que as terras poderiam ser divididas por herdeiros, multiplicando-se em lotes menores, já não tão capazes de sustentar aquela riqueza e enfraquecendo a todos os proprietários, além de lançar entre pretendentes a discórdia pela cobiça; a segunda era que estavam sempre esses senhores endividados e hipotecados, até mesmo pelo que gastavam na compra de negros cativos, devendo em letras e obrigações mais do que valia a produção de suas terras e fazendas, de maneira que os credores, muitos deles sem nada terem a ver com essas terras, é que se apossariam delas, alguns das máquinas, outros das plantações, outros das casas, outros dos negros, tornando confusa a propriedade e complicada a produção. Cada rico morto são dez pobres vivos — acrescentou como se já tivesse dito aquilo muitas vezes — e em cada dez pobres nove são pretos e o outro raceado, ou pelo sangue ou pela vida que leva. Budião sentiu-se tonto, acreditou até que era por causa da fumaça do cachimbo. Olhou
para os dois companheiros, ambos pareciam tontos também, Zé Pinto sacudindo a cabeça como quem não acredita no que vê e ouve, Feliciano exaltado e irrequieto, reproduzindo a saudação ensinada por Dandão. Budião voltou-se para Dandão, intrigou-se com a tranquilidade com que ele falava aquelas coisas terríveis e difíceis, acabou dizendo que não tinha entendido nada direito. — Tu entendeu, Zé Pinto? — perguntou. — Da-da-da-da — respondeu Zé Pinto, com os olhos baixos. — Tu vais entender — disse Júlio Dandão. — Eu vou mostrar um segredo. Vou mostrar mais de um segredo, segredos que eu venho guardando sozinho, mas não devo mais guardar sozinho. Antes, todos os que sabiam desses segredos morreram ou desapareceram, só fiquei eu, com essa missão de guarda. Mas segredo de um só não serve para nada, só leva ao desvario do juízo e à perda completa da ideia. De maneira que chegou a hora de dividir esses segredos, que é o único jeito de manter esses segredos inteiros. Mas não é somente para mostrar, é também para fazer. Passou os olhos pelos três com o cachimbo na boca, as bochechas enconchadas pela força das chupadas até se tocarem por dentro e a fumaça, em chumaços cada vez mais volumosos, encobrindo-lhe a cabeça. — Muito bem — disse, o rosto retomando forma gradualmente em meio à fumaça. — Vamos ver esses segredos todos, todos que fiquem aí como estão. Estendeu o braço para trás, pegou um surrão de pano pardo que ninguém antes tinha visto ali no cantinho, puxou-o pela boca, afrouxou o cadarço, abriu-o, olhou para dentro um instante, arrancou com as duas mãos uma canastra de madeira e metal, prendeu o surrão com o pé para que ela pudesse sair desimpedida e levantou-a diante dos outros. Parecia ser pesada, pois mesmo seu braço, da grossura de um mamoeiro na primeira fruteação, tremia ao erguê-la. Depositou-a à frente, tirou o chapéu, tenteou com os dedos por dentro dele, sacou um pedaço de ferro de contorno ziguezagueado e passou a enfiá-lo, em movimentos nervosos, nas oito ranhuras laterais da canastra, até que, murmurando um canto abafado e uns sons como os de quem faz contas entre dentes, bateu três ou quatro vezes nas quinas e a tampa se levantou como a cabeça de um peixe vagaroso saindo fora d’água, o rangido leve das dobradiças soando muito alto naquele silêncio. Dandão olhou para dentro da canastra, pôs-lhe a mão na tampa, quase fechando-a de volta. — Estes segredos — disse sem tirar a mão da tampa — são parte de um grande conhecimento, conhecimento este que ainda não está completo, mesmo porque nenhum conhecimento fica completo nunca, faz parte dele que sempre se queira que ele fique completo. E faz parte dele também, por ser segredo e somente para certas pessoas, que cada um que saiba dele trabalhe para que ele fique completo. Se todos trabalharem, geração por geração, este é o conhecimento que vai vencer. Budião, Feliciano e Zé Pinto continuaram sem compreender direito o que ele estava dizendo, mas não sentiram vontade de perguntar nada, como se tivessem certeza de que acabariam compreendendo. Mesmo porque, enquanto falava entre seus rolos de fumaça, Dandão ficou muito maior, muitíssimo maior, mais alto do que a casa que o continha, ficou de todas as cores e expressões, ficou até transparente, ficou úmido como o entrepernas de uma mulher e sabido como a raiz da árvore, ficou uma verdadeira paisagem. E então soltou de vez
a tampa, que voltou a escancarar-se pendulando até achar sua posição, e de lá principiou a puxar segredos, um segredo atrás do outro, cada qual mais maioral, havendo quem afirme terem sido libertados inúmeros espíritos de coisas, maneiras de ser, sopros trabalhadores, papéis que não se podia ver com os dois olhos para não cegar, influências aéreas, as verdades por trás do que se ouve, sugestões inarredáveis, realidades tão claras quanto o imperativo de viver e criar filhos. Foi também tudo muito sonoroso, tão melódico que nada mais se escutou dentro da casa da farinha, dizendo uns que ali, naquela hora, se fundou uma irmandade clandestina, a qual irmandade ficou sendo a do Povo Brasileiro, outros dizendo que não houve nada, nunca houve nada, nunca houve nem essa casa dessa farinha desse engenho desse barão dessa armação, tudo se afigurando mais labiríntico a cada perquirição. Enquanto Júlio Dandão vai aos poucos catando na canastra o que mostrar e vai exibindo alguma coisa e explicando outra, essa Irmandade talvez esteja se fundando, talvez não esteja, talvez tenha sido fundada para sempre e para sempre persista, talvez seja tudo mentira, talvez seja a verdade mais patente e por isso mesmo invisível, porém não se sabendo, porque essa Irmandade, se bem que mate e morra, não fala.
Salvador da Bahia, 13 de setembro de 1827.
Sorriso de Desdém estava pálido, a voz falhando, as mãos apertadas, os olhos arregalados. E Zé Libório não lhe ficava atrás, só que não tinha paciência para permanecer sentado e, enquanto o outro falava, zanzava de uma ponta para outra do tendal, para de quando em vez encarar Nego Leléu como quem espera explicações de alguém que fez alguma coisa muito errada. Mas Leléu, que no começo ficara tamborilando as unhas na mesa, agora ouvia as acusações com o rosto impassível, os braços cruzados e até, podia-se dizer, uma atenção cortês. Só não iria admitir que Sorriso de Desdém o chamasse de nomes feios, caso em que talvez passasse a mão no porrete que descansava entre os joelhos, mas Sorriso de Desdém tinha preparado sua fala, estava mais interessado em demonstrar razão do que em xingamentos, pelo menos por enquanto. Lembrou que Leléu fora o primeiro a juntar os açambarcadores de peixe para combinar o preço da compra e o preço da venda e acertar a união que faz a boa prática comercial, ainda mais neste comércio de merda, em que qualquer chuva ou qualquer lua mudavam tudo, comércio de pobre em que toda gente achava de dar penada e todo funcionário de cagar regra. Então nada mais era do que alta canalhice aquele comportamento de Leléu nos últimos dias, andando todo monarca pelo meio dos balaios e dando os preços no olho e na veneta. Quando encontrava um balaio já apalavrado, dizia dichotes do preço apalavrado, chamava o pescador de besta da bolacha, oferecia qualquer derréis a mais e arrastava tudo. Se chegasse cedo, se comportava de maneira nunca vista no mercado da Conceição desde que o mundo era mundo, indo até mesmo encontrar as canoas na largada da poita para anunciar, como se fosse o exclusivo rei do mar com todos os seus peixinhos, que cobria qualquer oferta passada ou futura e que portanto não adiantava levar o pescado para o lugar de ver, carregassem logo tudo para uma de suas quatro bancas. Se algum pescador por
acaso hesitava ou lembrava acordo e amizade com outro peixeiro, ele primeiro debochava, depois ameaçava, depois traía a confiança dos colegas, denunciando os compradores que usavam pedras de peso ocadas para ganhar um pouco mais na quantidade, prevendo falências e falcatruas, arrotando vantagens, exibindo poderes financiais e, enfim, surpreendendo a todos com tanta ousadia, descaramento e desfaçatez. Se chegava ao mercado pelas quatro, cinco horas, como os outros, desmanchava tudo quanto fora organizado tão laboriosamente no curso de anos e mais anos de arrelia e intranquilidade. Pois o peixe, como sabem todos, é vendido pela cotação, a cotação é feita sem alarde, com educação e discrição, tudo conchavado dentro da decência que deve imperar nos negócios sérios, a ponto de quem não conhece o ramo poder ficar ali defronte, em cima mesmo, e não perceber coisa alguma acontecendo. Não é nada disso do que resolveu Nego Leléu, entrando pelo meio das conversas alheias, rindo alto das combinações, debicando dos que vendiam a outros que não ele e manobrando para que o peixe alheio encalhasse, fosse dizendo que era reimoso, velho e de segunda, fosse baixando seu preço tanto que ninguém podia concorrer sem arruinar-se. Como ficava o Grêmio dos Marchantes de Peixe Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que Leléu mesmo tinha inventado e até batizado? O Grêmio não tinha sede, não tinha letreiro, não tinha carta, não tinha nada, mas existia, tanto assim que, depois que eles se reuniam para fazer a cota de cada um, fazer o preço de cada qualidade de peixe e marisco e dar as condições de pagamento, não era necessário mais que um comprador para representar todos eles, um comprador sem controvérsia ou protesto, era aquilo ou nada, pescador que não gostasse que fosse vender seu peixe sozinho, sabendo-se que quem trabalha no fazer não trabalha no vender e por conseguinte o pescador não tinha jeito. Agora não, agora a salga do peixe de Leléu estava cada vez maior, fileiras e mais fileiras de peixe e camarão pegando sol, falava-se até mesmo de minas de cernambis e mariscos de areia conservados em cochos com lama e água da maré, esperando comprador. Então, disse Sorriso de Desdém tremendo como carne de tartaruga, isso não pode mais ser, isso não vai continuar, isso está um abuso, mais do que abuso, que é que Leléu estava pensando, estava pensando que todos os outros iam ficar de braços cruzados enquanto esse despautério acontecia? Zé Libório, para quem, cada vez mais exaltado, Sorriso de Desdém olhou pedindo apoio, foi até Leléu com as mãos nos quartos e se plantou diante dele silencioso. E Leléu chegou até a pensar em lhes contar como estava azul, azul mesmo de retado, azucrinado, infernado, como se sentia lutando contra o mundo e como dera para achar que era cada um por si, ainda mais do que achava antes. Doutor Pedro Manoel Augusto mesmo, lá em Nazaré, entendera de voltar, depois de toda aquela ladainha de Santa Marta e dona Marta de Betânia e não sei mais o quê, para tornar a perguntar se Leléu não tinha uma menina para tomar conta da casa de Aratuípe, uma menina nova, de pernas grossas e bom traseiro, que fosse disposta e não tivesse calundu nem muito bodum. — Mas senhor doutor tabelião Pedro Manoel Augusto, não me disse o senhor mesmo que não queria mais saber dessas coisas? Não devolveu a menina que lhe arranjei, coisa mais que fina, de boa raça das senzalas do barão de Pirapuama, afamado pelo capricho no criatório de negros? — É, disse — respondera Pedro Manoel Augusto. — Devolvi, sim. Mas agora estou
pensando melhor, o homem não pode se prender a essas promessas obrigadas pela mulher, o homem tem de ser fiel a si mesmo e eu sou assim. — O homem tem de ser fiel a quê, meu ioiozinho? — Fiel a si mesmo. Tu não entendes desses assuntos, são assuntos da Filosofia Moral, que estão tão longe de ti quanto a inteligência está longe dos vermes. Que é feito da menina, não a mandaste embora, pois não? — E a promessa, meu ioiozinho doutor Pedro Manoel Augusto, a promessa a Santa Marta? — Isto não é questão que te interesse, nada tens com isso, não sejas ousado, a promessa é entre a santa e eu, não te metas. Então, onde está a menina? — Mas doutor Pedro Manoel Augusto, Vossa Excelência não já recebeu todo o dinheiro, não já levei tudo que Vossa Excelência mandou? Não já acertamos tudo? — Ah, mas então faço-te um favor, um favor muito grande, livro-te de multas e do xadrez, dou-te todas as oportunidades e, quando preciso eu de um favor, tu me negas? — Mas senhor doutor tabelião provedor Pedro Manoel Augusto, aqueles pagamentos não foram por causa de que Vossa Excelência não aceitou a menina? Não foi uma coisa no lugar da outra? Ioiô não disse... — Bem diz sempre meu pai que a gente como tu não se deve fazer favor e obséquio, porque não compreendem, e a virtude da gratidão lhes é desconhecida! Mas então, negro safado, é assim que me respondes, com rezingas e negaças? Tu pensas que aquele dinheirinho, aquela meia pataca que pagaste em lugar de tuas dívidas criminosas, adianta-me alguma coisa? Quem pensas que és, quem pensas que sou? Julguei que, com o favor que te fiz, pudesses ver que em mim contavas com um amigo e protetor. Mas percebo que não, não sabes dar valor às coisas de valor, vejo que atiro pérolas aos porcos, como se diz. Bem feito para mim, que fui esperar ter com negros o mesmo trato que com brancos, tu não vales é nada, tu és um poço de ingratidão e estupidez. Pois muito bem, pois perdes o amigo e o protetor, quero ver agora como te sais com teu comércio ilícito e tuas práticas larápias. Até parece que foste tu que me fizeste o favor de perdoar os devidos e as multas, não eu a ti, isto chega a ser engraçado, chega a ser muito engraçado, se me contassem eu não acreditava. Bem feito, bem feito! Leléu franziu o rosto. O desgraçado quis foi tomar o dinheiro primeiro para depois pegar a menina, se duvidar nunca houve nem promessa nenhuma a nenhumas santas martas, sujeito descarado! Está certo, bem faz ele, mal fez Leléu, em não ter pensado em tudo e ter cometido aquela besteira de deixar Vevé ficar em Nazaré, em vez de mandá-la embora logo, para ver se achava serventia para ela em outra coisa. Quanto mais se vive mais se aprende, é isso mesmo, e além disso o preto tem de ser mais esperto, muito mais esperto — já viu, não é, estar neste mundo de sabidos e ainda por cima ser preto, já viu, hem? Leléu se lembrou de suas próprias convicções, recriminou-se por haver esquecido delas a ponto de facilitar com Pedro Manoel Augusto. Muito bem, para sabido, sabido e meio. Caiu de joelhos aos pés do tabelião. — Ai, ioiozinho, pela bença de santa Senhora Mãe de Vossa Excelência, pelas chagas de Cristo, não diga Vossa Excelência uma coisa dessas, não faça Vossa Excelência uma miséria destas, que eu sou preto mas não sou ordinário, ioiozinho! Eu só perguntei por
perguntar, é que eu pensei que a promessa... Mas razão tem Vossa Excelência doutor ioiozinho, o homem tem que ser fiel a ele mesmo, benza Deus Vossa Excelência por tanta inteligência, ah ioiozinho, não pense que eu não faço qualquer coisa pela amizade e a proteção, São Lourenço que me livre de perder a amizade de Ioiô ioiozinho, como é que eu vou ligar para uma negrinha ordinária, isso tem lá valor? Queria eu ter mais para mais pôr à disposição de ioiozinho, pelo amor de Deus, senhor doutor Pedro Manoel Augusto, nem pense uma infelicidade destas! O tabelião ainda resistiu um pouco, perseverou no amuo, mas Leléu desta vez conseguiu beijar-lhe a mão e já espremia duas grossas lágrimas pelos cantos dos olhos, quando ele cedeu. Muito bem, por esta vez passaria, mas que aprendesse a lição, procurasse não mais causar-lhe dissabores. Quando poderia ver a negrinha? Ah, se Leléu tivesse sabido, ela já estaria ali, pronta para o que desse e viesse, mas não estava, tinha saído com mais duas para ajudar na cata do marisco — aliás, o doutor gostava de aratu? Tinha pegado uma carga boa! Mas o doutor não quis saber dos aratus. Agora que havia garantido a posse da negrinha, ficou afogueado, levantou-se, não parava quieto, esfregava as mãos e coçava o saco incessantemente, um sorrisinho nervoso piscando vez por outra em sua boca, como luz de vaga-lume. Então faria o seguinte. O que faria era o seguinte. Muito bem, faria o seguinte, o seguinte. Amanhã, sem falta, estaria no trapiche velho, ali por trás dos fardos de piaçaba, que faziam uma parede natural. Que Leléu mandasse a negrinha para lá de manhã cedo, ele a encontraria lá, iria — esfregou as mãos e deu um pulinho curto — ver como eram as coisas, depois falaria com Leléu. — Bem pensado, bem pensado! — dizia Leléu a cada instante, com grande admiração. — Muita inteligência, muita inteligência! — Hoje mesmo vou dizer à senhora dona Marta, minha esposa, que amanhã viajo cedinho, antes do amanhecer. Assim, posso passar o dia inteiro no trapiche velho, sossegadamente. — Mas que inteligência! Homem! Aí é que eu admiro o estudo, nunca que eu ia pensar essas coisas assim tão bem pensado, o estudo é uma grande coisa, benza Deus. Ioiozinho quer que eu mande comida também? Possa ser que dê fome em ioiozinho, essas coisas assim... Pedro Manoel Augusto riu cobrindo a boca. Sim, mandasse um farnelzinho pela negrinha, nada de muito pesado, uma merendinha leve, uns docinhos também não fariam mal. — Pode deixar, ioiozinho, mando uma matalotagem caprichada, Vossa Excelência vai ver, mas, com perdão da má palavra, que homem danado, mas que pensamento, que ideia ligeira! Todavia, assim que Pedro Manoel Augusto terminou de combinar pela décima vez todos os pormenores, desde a hora até o sinal que daria para comunicar que estava à espera — um discreto lencinho encarnado com a ponta aparecendo pelo canto do janelão do trapiche —, e foi embora esfregando as mãos como se quisesse soldá-las, Leléu fechou a cara e correu para o barraco atrás do telheiro do peixe. Chamou Vevé e, de uma forma com que nunca se havia dirigido a ela, pediu-lhe fervorosamente que ficasse no barraco o dia todo, para o próprio bem dela, não saísse de lá por nada. Abriu uma arca enferrujada e, jogando para fora panos coloridos, pedaços de madeira pintados, chocalhos, apitos, cornetas, bonecos, rodas,
bois de barro e todo tipo de brinquedo, teve uma exclamação de alegria ao achar uma bexiga cheia. Apanhou o mané-gostoso e um pião de bolinhas azuis e vermelhas, embrulhou-os num pano velho junto com a bexiga. — Depois eu te conto, fica aí — disse a Vevé e saiu sem esquecer de passar a aldrava na porta com atenção. Encontrou o negrinho Salustiano na quitanda como esperava, chamou-o para uma conversa. Ele conhecia o menino José Vicente, filho do doutor tabelião Pedro Manoel Augusto, não conhecia? Não brincavam juntos de vez em quando? Brincavam. E Quelé, o irmão menor de Salu, por onde andava? Tinha um serviço para os dois, serviço muito importante, nada de perguntação, era coisa de grande responsabilidade. De tarde, dava para chamar Quelé aqui? Dava, sim, e Leléu, quando o sol já ia se pondo, conversou com os dois aos cochichos. Estão prestando atenção? Pois muito bem, pois amanhã bem cedinho... E nesse dia, bem cedinho, já se viam Salustiano e Quelé, o pião e o mané-gostoso enfiados nos bolsos dos calções, a bexiga subindo e descendo em suas mãos como uma bola mágica, defronte do alpendre em que José Vicente estava sem fazer nada, pedindo a uma mucaminha que lhe contasse outra vez a mesma história. E a mucaminha já ia dizer como sempre que contar história de dia faz nascer rabo, quando José Vicente viu a bexiga e correu para a rua. A mucaminha deu de ombros, melhor mesmo que ele fosse brincar lá fora, em vez de ficar por ali querendo uma coisa atrás da outra. Não tardou que Quelé se queixasse de que aquela rua era muito estreita, cheia de valas, não dava para brincar direito. Por que não iam até a capineira baixa, ao lado do trapiche velho? José Vicente olhou para ver se a mucama estava vigiando, não estava. Dona Marta não gostava de que ele fosse brincar pelos lados do trapiche velho, achava que lá podia haver cobras. Mas, quem sabe uma horinha só? Hesitou um pouco, Quelé insistiu. Se não fossem com ele, iria sozinho, levava sua bexiga, levava o mané-gostoso, não mostrava os outros brinquedos que tinha guardados. Salu fez objeções, ele mesmo não ia, Seu Leovigildo tampouco gostava que ele se afastasse. Ah, então eu vou — disse Quelé agarrando a bexiga, e José Vicente correu atrás dele, Salu voltou para a quitanda. De longe Quelé já via a ponta de pano vermelho saindo espremida pelo canto da janela. Então estava tudo certo, era aproveitar a primeira oportunidade para jogar a bexiga por cima do tapume do trapiche, como Leléu tinha mandado. Lá se foi ela, ajudada pelo vento forte que curvava as tiriricas do alagadiço. — Diacho! — disse Quelé. — Uma bexiga dessas, tão bem enrolada de barbante, que minha madrinha enrolou! — Pula aí para buscar — disse José Vicente. Quelé avaliou a altura do tapume, curvou a boca para baixo. Quem é que ia trepar numa altura daquelas? Só se tivessem uma escada. — É capaz que a porta esteja aberta — disse José Vicente. — Vai ver se a porta grande não está aberta, dali a gente atravessa e entra no quintal. — Eu não. Se eu entrar lá, vão dizer que eu sou neguinho ladrão, eu mesmo que não vou lá. José Vicente correu até a porta, empurrou-a, estava meio presa mas parecia fácil de abrir. Forçou outra vez, já estava conseguindo uma abertura por onde se esgueirar, quando alguém do lado de dentro abriu a porta por inteiro.
— Pai! — gritou José Vicente. — Meu pai! A figura espantada de Pedro Manoel Augusto estava de pé à entrada. Chegara com um sorriso para abrir a porta, agora não acertava a dizer nada, enquanto José Vicente, sem nem olhar para Quelé, disparava de volta para casa, com medo de apanhar por brincar em lugar proibido. — José Vicente, volta aqui! — chamou Pedro Manoel Augusto já tarde demais, o vulto pequeno do filho sumindo por trás dos oitizeiros. Pronto, pensou o tabelião, pronto. Agora o raio do menino ia para casa dizer à mãe que o pai não estava em viagem, estava escondido dentro do trapiche velho como um rato de armazém. Mas, tão logo começou a engendrar uma desculpa afobada, Vevé apontou no caminho da igreja, carregando pelas abas um cabaz de vime cheio de frutas, pastéis e quartinhas de refresco. Ele fez um sinal atarantado com as duas mãos, ela achou que era para que se apressasse e começou a correr caminho abaixo, sem entender por que, quanto mais ela corria, mais ele gesticulava. — Ora, que desgraça! — disse ele, quando ela parou diante da porta do trapiche, ainda ofegante da carreira que tinha dado. — Mas já se viu? Que estás a fazer aqui, não vês que não podes ficar aqui? — Mas o lenço encarnado não estava na janela? Não era para vir quando o lenço encarnado estivesse na janela? — Não! Sim. Era! Era! Não é mais! E desabalou em direção a sua casa, sem falar mais nada com ela, que ficou com um riso esboçado na cara, enquanto ele andava o mais rápido que podia em suas perninhas finas equilibrando o barrigão — que desgraça, que desgraça, essa agora, que desgraça! E, mais tarde, quando a senhora dona Marta de Betânia, apesar dos protestos do marido, veio fazer uma verificação no trapiche, encontrou-a de olhos baixos, respondendo apenas com um silêncio encolhido às perguntas feitas, exatamente como tinha combinado com Leléu. Dona Marta abriu o cesto, virou-o de cabeça para baixo no chão e, querendo fazer ou dizer mais alguma coisa sem saber porém o quê, fungou ruidosamente, mordeu os beiços e marchou dura de volta à casa, ignorando o olhar comprido de Pedro Manoel Augusto, que mastigava as mãos com cara de choro. Leléu, embora não deixasse de escutar vagamente o que Sorriso de Desdém continuava a falar, lembrou com satisfação como tudo tinha dado certo e como aquele estuporado daquele tabelião não tinha papado de graça o que não lhe era devido. Sentiu até uma certa amizade por Vevé, mas em seguida tudo se ensombreou outra vez: não é que a miserável estava mesmo enxertada, não é que a barriga já inchava, mesmo debaixo do saião rodado que lhe dera para que não houvesse comentários enquanto ele não resolvesse o que fazer? A negra Inácia tinha razão então, então ela estava mesmo prenhe desde aquele dia de Santo Antônio mais ou menos, estava com quase três meses. Não servia para nada, que diabo ele ia fazer com uma peste de uma negrinha embuchada, mesmo que o filho fosse do barão, barão este finado e enterrado, ai quanta aporrinhação! Antes ele tivesse deixado o tabelião socar o relho na negrinha, que naquela época ia dar para pensar que o filho era dele, sendo ele quase tão branco quanto o barão. Tudo desencontrado, tudo dando para trás, em toda parte caloteiros, escorchadores,
aproveitadores, invejosos, um atraso só, uma luta mais que tirana, quanta aporrinhação! O homem deve ser fiel a si mesmo, recordou Leléu, a mim me devem sem pagar, a mim me abusam, a mim procuram prejudicar, a mim me atazanam, a mim me atrasam, a mim me botam o olhão nas minhas coisas, a mim só criam dificuldades, ora merda! — Tão todos dois enganados — disse a Sorriso de Desdém, com uma calma ainda maior que a que tinha ensaiado. — A mim não tão dizendo nada, não sei nada disso. Sorriso de Desdém fez força para a mão que levantava com o dedo em riste não tremer. — Leléu — falou com a voz estrangulada —, não é só tu que é sabido, não é só tu que é macho, não é só tu que é disposto. Leléu passou a mão no porrete, agarrou-o firme. — Tou com a mão no porrete — disse. — Tu já contou tuas mentiras aí, já fizeste ameaça, já abusaste da minha paciência. E tu também, Zé Libório, que, quando todos os dois passaram necessidade, se acharam foi comigo para emprestar dinheiro. — A prêmio. — Pois! Pois! A prêmio, que eu não vou trabalhar de sol a sol, de lua a lua, para sair dando meu dinheiro. O teu mal, o mal de todos os dois, é achar que tudo vem de graça. Nada vem de graça e, se eu tenho, tudo eu conquistei e todo dia tenho de reconquistar. Em vez de ter inveja, vão trabalhar como eu! — Todos aqui trabalham, deixa dessa conversa de disfarce. — Tou com a mão no porrete e estou com vontade de dar umas cacetadas e não tou fazendo troça! — Leléu, tu não perde por esperar. — Fora! Todos dois! A porta da rua é serventia da casa! Ora, está muito certo, pensou depois que os dois saíram, resolvendo que ia ter o instante de fraqueza. — É, eu vou ter o instante de fraqueza — disse alto, e pescou uma garrafa de cachaça empoeirada de dentro de um cesto atufado de palha de bananeira. Levantou a garrafa contra a luz, sacudiu-a, passou-lhe um pano para limpar a poeira, sacou a rolha com os dentes, encheu dois canecos, bebeu um atrás do outro, ficou bêbado imediatamente, já saiu melado para a rua. Quem não o conhecesse talvez não notasse que estava meladão, mas isto era visível pelo maxilar pendente mesmo com a boca fechada e o olhar agressivamente enviesado. Também falava alto quando bebia, tão alto que, mesmo se tentava cochichar, sua voz reverberava por todo o mercado, acordando até quem já estava dormindo depois de trabalhar a noite toda e almoçar pelas seis horas da manhã. Prorrompeu da porta, o sol lhe bateu na cara, ele puxou o chapelão por cima da testa. Lambeu os beiços, cuspiu de lado, esfregou as duas mãos dos lados das calças — coisa que tampouco fazia quando estava sóbrio, para não sujá-las —, lembrou-se do porrete, voltou para buscá-lo, emergiu de novo, parecendo outro homem. — Vamos trabalhar, Leléu — disse, avaliando a paisagem com um olhar confiante e começando a andar para onde os pescadores já enfileiravam os balaios do dia. Sabia que estava bêbado, tinha ficado bêbado de propósito, gostava daquela sensação de maluquice, embora desaprovasse a bebida e soubesse que, no dia seguinte, ia arrepender-se. Mas jamais
falava no assunto, jamais reconhecia que estivera bêbado e maluco, mudava de conversa quando alguém perguntava qualquer coisa e, sozinho, somente se arrepiava e estremecia ao lembrar alguma asnice que cometera, bastando contudo esse arrepio e esse estremeção para exorcizar tudo e não deixar que ele pensasse outra vez no que fizera. Marchou para os balaios e o primeiro que viu foi o de Rato e Sariguê, dois mulatos magros, irmãos por parte de pai e mãe, que saíam também bêbados para pescar e que moravam, cada qual com duas mulheres, duas sogras, quatro cunhados, seis cunhadas e três sobrinhos, nos buracos do paredão da ladeira da Conceição, juntamente com os morcegos, segundo muitos também seus parentes, segundo outros sua comida em dias de festa da família. Nenhum dos dois sabia pescar e, se sabiam, sempre estavam emborrachados demais para trazer o peixe bem, de forma que Leléu já estava ciente do que ofereciam no balaio e de que o venderiam por qualquer preço. Aproximou-se do balaio, apenas confirmou: um monte desordenado de lulas pequenas, siris caxangás de má qualidade, vermelhinhos espinhentos, carrapatos miudinhos, cabeçudos destamanhinho, xixarros e sardinhas ordinários, dois ou três carapicus, quatro ou cinco garapaus, um cavaco muito do esbodegado lá realçado como se fosse grande coisa, seis agulhões mais verdadeiramente agulheiros de tão cheios de farpelas, coisa abaixo de imprestável. — Quanto quer na bela moqueca meu caro Sariguê, quanto quer meu nobre Rato Gazo? — disse Leléu, detendo-se com um passo de sarambeque e gestos floreados. Sariguê estranhou, deu risada. — Um cruzado leva tudo — disse, e chegou até a levantar o braço, no caso de Leléu querer dar uma cajadada nele. — Meu bom homem, meu grande pescador brasileiro, mecê apresenta uma moqueca dessas, coisa de reis e rainhas nesta rampa de mercado, e mecê quer um cruzado por tal belíssimo banquete? — discursou Leléu. — Toma lá seis cruzados por esse balaio precioso, leva ele lá a meus negros cativos. Achou-se engraçadíssimo, dobrou-se de gargalhar e, curvado, aos tropeções, bateu-se com a guaraiúba de Nego Lodé, o brilho do mar ainda persistindo nas escamas, os lombos azulescentes faiscando. Estacou, rodopiou nos calcanhares. Eparapapá! Me compreenda uma coisa! — Mestre Lodegário — declamou, arrastando o chapeirão nas pedras do calçamento em saudação aos peixes —, permita-me Vossa Excelência que eu cumprimente Vossa Excelência, saudando em grande saudar com toda a reverendíssima, pelo bem conduzir dessa grande pescaria, sim senhor, benza Deus, louvado seja o Altíssimo, que lindas guaraiúbas! Lodé sorriu, trocou de pé de apoio, olhou seu peixe com satisfação. — Muito bem, muito bem-bem-bem — disse Leléu. — Pode mandar levar para mim, faço questão dessas guaraiúbas, vou até mandar dourar uma. — Já apalavrei — respondeu Lodé com alguma relutância. — Só fiquei aqui com a manjubinha. Mostrou o balaio da manjuba. — Ótimo — declarou Leléu. — Fico também com essa pititinga de bosta aí. — A guaraiúba tá apalavrada.
— Apalavraste com quem? — Com Sorriso de Desdém. — Apalavraste com pobre! — Ele chegou mais cedo. — Apalavraste com pobre! Pobre é uma desgraça, não adianta ninguém! É por isso que não me dou com pobre, eles lá e eu cá, quando muito um adeusinho e uma esmolinha. Pobreza pega, olhe o que te digo! Leva estas guaraiúbas, siô, deixa de ser besta, qualquer preço que esse pobre, como é o nome dele, Sarrilho de Dendê, te deu, te dou em dobro, leva isto, deixa de ser besta. Ficou olhando Lodé carregar os dois balaios para suas bancas, as mãos nas cadeiras, a cabeça levantada, um olho fechado por causa do sol. Nem reparou quando três negros chegaram por trás e um deles tentou arrancar-lhe o porrete da mão. Mas sempre o segurava firme e se voltou sem soltá-lo. O que tentara puxar o porrete deu um sorriso, parou sem jeito, os dois outros ficaram a uns passos atrás. — Que é isso? — perguntou Leléu, olhando de lado e abrindo um pouco as pernas para fincar-se mais solidamente no chão. — Não pode ver cacete, não, vai logo pegando, é? — Sorriso de Desdém mandou nós te falar. — Ah, eu tou conhecendo vosmecês, muito bem, estou conhecendo, sim, tudo negro de ganho desse como é o nome dele, esse menino Sarrinho de Dandá. Veje como são as coisas, um mulato safado daquele, bom de tar pegando na enxada para trabalhar nem que fosse vez na vida, fica aí com três negros de ganho, safados igual a ele, carregando merda a dois vinténs, capinando roça com os dedos a tostão a tarefa, bando de pobre descarado, tudo descarado! Recuou um pouco, sabia que tinha ofendido, queria insultar mais. — Já tomei muito café frio na casa dele, desse como é o nome, Surrica de Daidai. A mulher dele não tem asseio. Ele nunca bota nada dentro de casa, dorme no chão, é tão miserável que nem cama tem. Bebe, joga e é falso ao corpo. Mente até dormindo! Não se viu quem deu o primeiro golpe, mas Leléu sabia que ia brigar e então, assim que um deles se mexeu, trocou o cacete de mão sem que se percebesse e, com duas porretadas nas costelas, derrubou o da frente. Mas eram muito fortes e Leléu, apesar de transformado numa roda de cata-vento, girando rabos de arraia, bênçãos e martelos com tanta velocidade que quem estava de junto sentia o ar pinicado por seus movimentos, não evitou também ferirse e ficar coberto de calombos doloridos. Não se pode dizer que perdeu a briga, pode-se dizer até que ganhou, porque os três terminaram por correr, dois deles manquitolando e o terceiro com o cabelo empapado de sangue. Mas, de volta à barraca, passando arnica nos arranhões e pondo compressas nos pitombos, Leléu achou que estava ficando velho. Não sabia quantos anos tinha, mas seguramente estava ficando velho. O cabelo da cabeça não, mas a barba rala que sempre lhe crescia no queixo dera para aparecer cada dia mais grisalha. E também já não gostava de se abaixar mesmo por necessidade, sentia que as juntas não eram mais tão lestas quanto antigamente, a carne embaixo do braço, perto do sovaco, pendia um pouco, tinha de afastar o papel para ler letra miúda, estava ficando velho sim, quase não aguentara com aqueles três, que em outros tempos não dariam cuidado a quem como ele conhecia todas as qualidades de luta. Agora andaria armado, era uma necessidade. Além do cacete, alguma
coisa mais. Remexeu numa gaveta, tirou lá de dentro um cilindro oco de brim, fechado numa ponta, aberto na outra, com bainha para fora, de pouco mais de um palmo de comprimento e meia polegada de diâmetro. Arregaçou o rolo, examinou o esporão de arraia que estava dentro. Cautelosamente, porque toda a gente sabe que ferimento de esporão de arraia não cicatriza jamais, experimentou a ponta e as farpas, estavam duras como pedra e aguçadas como se um fazedor de agulhas as tivesse esculpido em aço fino. Puxou de volta o invólucro de pano, o esporão ficou embainhado, seu ferrão mortífero recolhido logo abaixo da abertura, apenas um rolinho de pano que se pode sair pela rua segurando como um lenço. E estaria somente com esse rolinho vazio e flácido na mão, depois que enfiasse o esporão na barriga de alguém: lá ele se plantaria, sangrando pouco ou nada por fora e destruindo todo por dentro, impossível de remover por causa das farpas. Quanto a Leléu, nada de arma na mão. Somente aquele inocente rolinho de pano, inofensivo como uma banana descascada. Meteu o cilindro carregado na algibeira, pensou em beber de novo, chegou a apanhar um dos canecos, mas desistiu. Veio-lhe um sono forte, junto com a lembrança de que no dia seguinte seria a missa de sétimo dia do barão, na Basílica, e ele estaria lá, de longe mas estaria. Uma dor de cabeça de lascar as fontes, um enjoo azedo, tanta preocupação sem resolver. E quantas besteiras tinha aprontado? E que diabo ele ia fazer com o mulatinho que Vevé ia parir daí a uns sete meses, só faltava essa, menino dentro de casa. Bem, daria o menino para alguém criar, não haveria de ser difícil, principalmente se puxasse mais ao pai, saísse mulatinho claro, amorenado mais ou menos, de cabelo quase bom. Mas já se viu que vida, até isso aparece para atentar. Bem, é isso mesmo, resignou-se Leléu, começando a cair no sono e deliberando amanhã vestir seu fato preto para derramar lágrimas soluçantes, quando a baronesa o visse à porta da igreja.
8
Salvador da Bahia, 17 de março de 1839.
Choveu a semana toda e amanheceu um dia tão feio quanto os precedentes. Às cinco da manhã, antes de passar a meia hora costumeira trancado no gabinete diante de uma bacia esmaltada e de um gomil cheio de água alfazemada, areando os dentes e lavando a cabeça, que havia atravessado a noite untada por uma camada espessa de caldo de babosa embaixo da touca para amaciar o cabelo, Amleto Ferreira entreabriu a janela e inspecionou seu jardim com desagrado. Quase sempre escuro sob a fronde emaranhada das árvores, que cobria uma conglomeração cerrada de folhas e ramagens de plantas baixas, o jardim estava ainda mais penumbroso, uma floresta gotejante, grandes bagos de chuva esparrinhando a água dos tanquinhos, onde até mesmo os uapés, as ervas-de-santa-luzia, as damas-do-lago, as jaçanãs, as jipiocas retorcidas como novelos de sucuris e as outras vegetações da água estavam excessivamente molhadas, afogadas na molúria que tornava tudo úmido, escorregadio e lamacento. O martelo contínuo de gotas gordas pingadas das favas dos ingazeiros, sobre as folhas ressonantes dos crótons, cocós e taiobas, reiterava uma espécie de desesperança monótona a um dia que devia ser de festa, e somente as maravilhas, os musgos, os limos, as brilhantinas e demais seres que medram na obscuridade encharcada é que não pareciam mangrados e tristes como as outras plantas. Mundo madefato e sem brilho, em que o colorido das folhagens lembrava adornos de funeral, mundo que trouxe a Amleto um ressentimento redobrado. Decidiu sair para ver o que prometia o tempo, embora não acreditasse que fosse melhorar. Enrolou-se num roupão, agasalhou o pescoço com uma manta de crochê, pôs um barrete na cabeça para não resfriar-se, abriu a porta dos fundos do gabinete, desceu os dois batentes procurando não escorregar, pisou com gosto na alfombra de grama e plantinhas rasteiras, sentiu o pé afundar-se na terra empapada. Não chovia mais, apenas os pingos das árvores continuavam a despencar, às vezes como rajadas de chuva, quando uma lufada agitava as copas. Amleto teve um arrepio de frio, temeu constipar-se, mas assim mesmo resolveu ir até o portão de ferro que dava para o Rosário, para olhar melhor o horizonte e avaliar o clima. Gostava de seu jardim, tinha uma satisfação inexplicável em passar horas sentado em frente às plantas, de olhos fixos nelas como se esperasse acompanhá-las crescendo e florando. E gostava também que fosse sombreado, pois o sol na pele lhe era uma agressão pessoal, caso pensado contra ele, para escurecer-lhe a cor sem piedade como já acontecera, virando-o mais uma vez num mulato. Tinha carinho pelas plantas, andou pela alameda de castanheiras prestando atenção a todos os troncos, levantando a vista para as flores-de-jesus tão leves como se apenas pousadas nas árvores mais ramudas, frágeis como passarinhos de papel, os fetos e samambaias, os jarrões de alvenaria enlaçados por trepadeiras, as estátuas das estações — e Verão, tão estranho, uma forma gregamente delicada, busto suave, ancas onduladas, feição nobre e mansa, fincada entre as raízes elevadas do grande pé de acácia, seria o Verão uma mulher e a Primavera um efebo maneiroso, como agora se via, muito
marmóreo contra o verdume salpicado de encarnado das bromélias? —, as colunas do talhe romano decepadas obliquamente ao meio como em velhos templos das gravuras antigas, a salsugem da água dos tanques, cadáveres de folhas, insetos e flores fanadas, se arrumando suavemente pelas bordas como enfeite, uma cigarra disparando um zizio repentino. Parou para olhar as trepadeiras grudadas na acafelagem rugosa dos muros, alisou algumas folhas, experimentou o molejo das gavinhas com as pontas dos dedos, chegou finalmente ao portão. Para um lado e para o outro, as nuvens continuavam fechadas e baixas, o vento cessara, o ar se tornara opressivo. Amleto arrepiou-se outra vez, fez meia-volta para tornar a trancar-se no gabinete. Teve portanto uma surpresa, ao sair à sala e ver pelas janelas abertas para a varanda principal que o sol havia despontado e uma claridade cortante cintilava sobre as plantas molhadas. Correu à varanda, pôs as mãos na balaustrada, somente uma moldura evanescente de nuvens permanecia em torno do céu, esmaecido como se também lavado pelas chuvas. Sorriu, bateu na balaustrada com satisfação. Estivera sorumbático lá dentro, entristecido pelas injustiças que a vida lhe aprontava. O batizado de Patrício Macário Nobre dos Reis FerreiraDutton, seu sétimo filho, quarto vivo, teria pelo menos um belo dia a servir-lhe de pano de fundo. E também uma bela festa — já podia aspirar o cheiro dos biscoitos assando nos fornos, sabia que se misturavam massas, que se batia o alfitete, que se cozinhava toda espécie de comida. Isto, assim como esta bela casa e todo o seu conforto, não lhe podiam tirar, não podiam dizer que não era direito seu. Pensando sobre como ganhara tanto dinheiro, já nem admitia para si mesmo, a não ser vagamente e a cada dia com menos frequência, que desviara os recursos do barão e se apropriara de tudo em que pudera pôr as mãos, em todo tipo de tranquibérnia possível. Não, não fora bem assim, precisava acabar com a mania de ser excessivamente severo consigo mesmo, chegava a parecer uma propensão ao martírio. E o tino comercial empregado a serviço do barão, as dificuldades sem fim, as soluções heroicas encontradas para problemas insuperáveis? E o sangue, isto mesmo, o sangue e o suor dados ao barão? E a situação tranquila da baronesa, hoje empobrecida, é verdade, mas vivendo com toda a dignidade, ainda na mesma casa do Bângala, assistida em todas as suas necessidades e as de seus filhos? Não tinha mais tantos negros, é também verdade, apenas três negras e dois negros, pois a dureza dos tempos atuais e os azares que por todos os lados perseguiram os negócios do barão aconselharam a que a escravatura fosse reduzida no mínimo indispensável. Que queriam? A pesca da baleia piorava a cada ano, era cada vez mais coisa do passado que o progresso soterraria, e a venda da Armação do Bom Jesus fora um excelente negócio, apesar do preço aparentemente baixo. Não contara à baronesa haver sido ele mesmo, oculto numa associação com dois comerciantes franceses, quem comprara a Armação e agora efetivamente a venderia com bom lucro. Afinal, fora uma venda como outra qualquer e de que maneira iriam enfrentar as despesas que se avultavam, com a crise da lavoura e do comércio flagelando todos os negócios do barão? Alguns amigos da baronesa haviam mesmo concordado em que tinha sido bom negócio, como acontecera com o bacharel Noêmio Pontes de Oliveira, hoje prestando serviços de advocacia a Amleto, depois de, com a estreita colaboração deste, realizar o inventário do barão — inventário, por sinal, decepcionante, com tantas dívidas, ônus e gravames que, não fora a dedicação de Amleto, trabalhando à frente de tudo até mesmo sem remuneração durante muitos meses, a baronesa e seus filhos talvez
tivessem sorte muito triste. Ela herdara do pai, realmente, mas os negócios dele já de muito vinham sendo prejudicados não só pela doença como pelos grupos de mata-marotos, pelos radicais que chegavam mesmo a atacar corporalmente os portugueses e a depredar-lhes as propriedades. Amleto, num artifício jurídico que laboriosamente engendrou junto com o doutor Noêmio para salvaguardar os interesses da baronesa contra a ganância dos herdeiros portugueses do pai dela, conseguiu vender com astúcia a maior parte do patrimônio antes de terceiros lhe deitarem as mãos — a preços certamente não tão compensadores, mas as circunstâncias da transação demandavam expediência, depois do fato é que tudo fica fácil. Para não falar nas despesas e negociações delicadíssimas, havidas para obter a compreensão e apoio dos ouvidores e fiscais da Fazenda, da Junta do Comércio e do Poder Judiciário, gente de respeito e trato que não se podia abordar com leviandade. Agora, o Empório e Trapiche, bem como os outros negócios, estavam na posse de terceiros, pois Amleto, depois de comprá-los com Noêmio, através de seu cunhado Emídio Reis, achou mais prudente passálos adiante do que administrá-los, ainda que por meio de testas de ferro. As casas deixadas pelo velho continuavam a render, bem como outras propriedades, mas tudo coisa minguada, uns vinténs que ele usava para pagar as despesas da baronesa, muitas vezes, o Céu é testemunha, tirando algo de seu próprio bolso para inteirar o que não era bastante. Os engenhos, por seu turno, não iam bem, os problemas do açúcar estavam cada vez mais graves, salvava-se apenas a escassa produção de aguardente, mal suficiente para custear o trabalho, no aguardo de melhores dias. — Pois é — pensou Amleto, deixando a varanda para ir tomar café —, a verdade é que estou em paz com minha consciência, nunca fiz mal a ninguém, sou um homem prestante. E por isso mesmo não deixava de revoltar-se por não poder arriscar-se a chamar a atenção dos maledicentes e invejosos, capazes até de encher os ouvidos da baronesa de falsas insinuações e mesmo calúnias, com gastos à altura de sua posição na sociedade. Não importava que todos soubessem — e todos sabiam, pois havia sido ele mesmo quem contara, embora não fosse verdade, mas disto eles não sabiam — que Teolina herdara uma fortuna de seus tios-avós portugueses de Trás-Os-Montes. Assim mesmo se falava, se comentava. Que caminhos ásperos, quantos obstáculos em cima de obstáculos, quantos escolhos insuspeitados! Cuidava-se de uma coisa, aparecia imediatamente outra, resolvia-se um problema, nascia outro logo a seguir. Quanto tempo perdido com os latinórios, as citações e as palavras decoradas, dura senda que não levava a lugar nenhum, a não ser à pobreza agravada pela inveja dos ignorantes, pobres ou ricos. Agora que achara o rumo certo, que cavara com as unhas sua fortuna, ainda tinha de enfrentar o problema da aparência racial, a aceitação das pessoas gradas, as restrições impostas pelos mesquinhos — a ponto de até a festa do batizado de Patrício Macário, que podia ser suntuosa como poucas na Bahia, ter virado, por cautela, praticamente uma festa íntima, para os parentes e amigos mais chegados. E o pior era que não podia evitar que lhe bafejasse a sorte, lhe desse a mão a Providência e o recompensasse o destino pela capacidade de trabalho e tirocínio. Comprara terras no sertão, baratas, quase de graça por causa da seca de 35, agora se falava que o gado por lá faria ricaços da noite para o dia. Plantara fumo na fazenda que adquirira através de Emídio, em São Félix, e já os lucros dos negócios feitos com os alemães se avolumavam. Cortava madeiras de lei nas terras
abandonadas do barão e não tinha mãos a medir para as encomendas. Previra que as novas construções, que todos os dias começavam na cidade, iam aumentar em muito a demanda de cal e assim, na contracosta da Ponta das Baleias, demarcara os grandes depósitos de calcáreo debaixo do mar raso e agora, dia e noite, os negros, manejando pás com a água lhes chegando aos queixos, abarrotavam de cascas de ostras a frota de saveiros que as levaria à caieira de Porto Santo. E até mesmo a cal refinada encontrava serventia a mais da conta, inclusive nas plantações de coco, como a sua mesmo, no Conde, onde em breve estaria fabricando óleo, sabão e gordura sólida, além de vender a fibra para os importadores ingleses. — Ah! — exclamou com enfado. — Isto um dia vai ser resolvido, isto vai ter que ser resolvido, a vida não pode ser somente de sacrifícios! Pensou gulosamente no primeiro almoço. Tivera dificuldade em acostumar as negras da cozinha e a própria Teolina a essa refeição, que não impunha a ninguém mas exigia para si, e revelava frequente desgosto por não ser imitado pela mulher e pelos filhos, pelo menos a mais velha, Carlota Borromeia Martinha Nobre dos Reis Ferreira-Dutton, que educava como uma inglesa, mas que não aceitava seu desjejum de rins grelhados, arenques defumados, mingau com passas, pãezinhos fofos, chá e torrada com geleia. Havia saído tão branquinha, tão alemoada, com sua tez diáfana, seus cabelos claros e finos, seu porte esbelto e frágil como devia ser o de uma jovem senhora da Corte de São Tiago, era tão dócil de maneiras, mas se rebelava contra aquilo, tinha náuseas, ia escondido pedir broas, cuscuz, mingau de tapioca, bolinhos de carimã e café com leite às negras. Um dia, porém, haveria de aprender, afinal não era mentira, tratava-se de uma inglesa de origem, uma Dutton. Recordou com prazer o dia em que o padre-adjutor do Vigário Geral o procurou no escritório, enfiando com nervosismo a mão pelas dobras da sotaina para sacar a certidão de batismo falsa, tão meandrosamente obtida. — Aqui a tem Vossa Excelência! — dissera o padreco, um desses velhos que não conseguem rir mesmo quando têm vontade, fazendo apenas uma caretinha débil e fibrilante, os lábios tremelicando como se temessem afastar-se um do outro durante mais que um segundo. — Reverendíssimo! — respondera Amleto, que, poucos minutos antes, tinha relido, no topo da lista das providências: “Certidão Dutton”. Tomou o papel, chegou a fazer-lhe um pequeno rasgão numa das margens, tal a avidez com que o desenrolou, leu em voz alta. — Amleto Henrique Nobre Ferreira-Dutton! Ferreira-Dutton! Não acha Vossa Reverendíssima que soa bem, soa muitíssimo bem? O padre não respondeu, tentou sorrir outra vez, bateu delicadamente a bainha da manga direita contra os cantos da boca, para enxugar os filetinhos de baba que não paravam de lhe correr das comissuras dos lábios. Mas percebeu que o momento requeria um comentário menos desentusiasmado. — Sim, sim, tem um belo som. Ferreira-Dupom! — Não, não, Ferreira-Dutton. Dutton, Dutton, é um nome inglês, não sabe? Do meu pai, John Dutton, John Malcolm Dutton. — Ah, sim, queira Vossa Excelência desculpar-me, julguei tratar-se de um apelido francês. — Não, não, inglês. Meu pai era inglês, acho até que parente distante de uns ingleses que ainda têm negócios aqui. E minha mãe era Ferreira, dos Ferreiras de Viana do Castelo.
— De Viana do Castelo? — Sim, sim. Vossa Reverendíssima também é de lá? — Não, não, sou ribatejano. — Ribatejano, hem? Fica distante, fica bem distante. — Pois. Pois, se bem percebo, Vossa Excelência, antes desta correção, chamava-se tão somente Amleto Ferreira. — Sim, pois, vicissitudes, coisas das questões religiosas do tempo de Dão João, incúria talvez dos padrinhos, as guerras napoleônicas... Eram tempos conturbados, estas coisas não eram de tão perfeita organização quanto o são hoje. — Sim, pois. — Mas a correção é necessária, de há muito que se faz necessária e, graças à compreensão de Vossa Reverendíssima e do Excelentíssimo Senhor Vigário... Vossa Reverendíssima compreende, em primeiro lugar era preciso restaurar a verdade dos fatos, a herança histórica de nossa família — afinal, nossa linhagem perde-se no tempo, tanto em Inglaterra como em Portugal —, que se espelha tão bem no nome. E, em segundo lugar, costumo emprestar grande significado ao nome, grande relevância. Não se deve escolher um nome ao capricho, ao acaso. Meu nome, por exemplo, é Amleto, escolhido por minha mãe em homenagem a meu pai; Henrique é pela velha tradição das casas reais de Inglaterra — Henrique, Jorge, Carlos, Guilherme, Eduardo e assim por diante —; Nobre porque este é sempre o terceiro apelido de nossa família portuguesa e, finalmente, Ferreira-Dutton, que é o nome correto da nova família, resultado da união anglo-portuguesa. — Sim, pois. — No caso de meus filhos, que, graças também à compreensão que sempre mereci da Igreja, já pude batizar com seus verdadeiros nomes... — Releu a certidão, beijou-a. — Sim, meus filhos não têm nomes escolhidos ao deus-dará. Nomen est omen, não concorda Vossa Reverendíssima? — Sim, pois, de certa maneira... — Os primeiros nomes de meus filhos são os de dois santos: o do dia do nascimento e o do dia do batizado. É assim com Carlota Borromeia Martinha Nobre dos Reis FerreiraDutton, que nasceu a 4 de novembro, portanto no dia de São Carlos Borromeu, e foi batizada no dia 11, dia de São Martinho. Assim como foram batizados segundo este critério o Clemente André, de 23 também de novembro, o Bonifácio Odulfo e os três anjinhos também, mais o nome Reis, que vem da minha mulher, da família Reis de Trás-Os-Montes, chamados assim imemorialmente por terem sempre estado a serviço real. — Pois. Muito justo, pois. Amleto percebeu que o padre podia estar com pressa, tinha até mesmo deixado de sorrir aquele sorrisinho curto a cada anúncio de um novo nome. Sim, claro. Já tinha o envelope pronto, bastou tirá-lo da gaveta, onde tinha estado desde o dia anterior. Apalpou-o ao longo das bordas, entregou-o ao padre. — Dá-me Vossa Excelência licença? — disse o padre, abrindo o envelope e começando a contar as notas sem esperar resposta. — Sim, naturalmente. É um modesto óbolo para as obras paroquiais, um contributo de
coração... — Pois — disse o padre, terminando de contar o dinheiro. — Pois, se me concede vênia Vossa Excelência... Sim, estava no cofre, muito bem trancada, aquela certidão, estava tudo, afinal, a correr muito bem. Sim, por que aborrecimentos? Certo que a vida apresenta percalços a todo passo, mas há também que esquecê-los, num dia como este. Não saiu o sol, não já devia estar tudo praticamente pronto, desde a pia batismal toda burnida, às flores pela casa, às toalhas de linho branco refulgindo, a festa em todo o ar? A esta hora, os rins grelhados sangravam em cima da chapa, a chaleira de ferro sibilava esplendidamente sobre as brasas, o mingau, frio como ele gostava, o esperava numa terrinazinha de porcelana fina, coalhado de passas descaroçadas uma a uma pelas negras. Entrou pela grande copa, a mesa estava posta, a mucama Luzia passou os olhos por tudo quando o viu, para verificar se havia alguma coisa errada. — Hoje, quero o rim um pouco malpassado — disse ele, sentando-se depois de cheirar as rosas do vaso do centro da mesa. — Nhô, sim — disse Luzia, e correu para dentro arrastando os pés. Mordiscando um brioche, Amleto pensou que já chegava a bandeja com os rins, ao ouvir passos atrás de si, na direção da porta da cozinha. Virou-se em antecipação alegre, fechou uma carranca logo em seguida. — Que é que estás a fazer aqui hoje? Logo hoje? Já não te disse para não vires aqui a não ser quando te chame? Que queres hoje, não tens tudo arranjado? Uma mulher pequena, mulata escura, cabelos presos no cocuruto por dois pentes de osso, se deteve, fez menção de que ia voltar para a cozinha, terminou em pé diante dele, as mãos encolhidas no colo. — Eu não vim atrapalhar — disse. — Podes ficar sossegado. Amleto levantou-se, pareceu não conseguir conter a impaciência, cobriu os olhos com as mãos, ficou muito tempo assim. — Dona Jesuína — falou, como se estivesse repetindo à força alguma coisa que o molestava muito. — Dona Jesuína, que quer a senhora, dona Jesuína? Que mais quer que diga, que mais quer que fale, que mais quer que dê? — Chamas-me de dona Jesuína e estamos sós. — Pois claro que te chamo dona Jesuína, pois claro que tive de habituar-me a isto, pois claro! — Mas disseste que só me chamarias assim quando nos visse ou ouvisse alguém. — Está certo, está certo, disse-te isto. Mas que há de mais em que te chame respeitosamente de dona Jesuína, pois que és dona Jesuína, não te chamas Jesuína? — Jesuína sou, mas também sou tua mãe. Amleto estacou, revirou os olhos, levantou as mãos abertas, bateu os pés no soalho. Alguém havia esquecido disso? Que filho tão malnascido quanto este, ou mesmo os bemnascidos, os muito bem-nascidos, que filho fazia pela mãe o que ele fazia? Tinha casa? Tinha. Tinha criadas? Tinha. Tinha comida farta, da melhor, da mais cara? Tinha. Tinha jardineiro para arrancar-lhe o capim dos canteiros, agora que não podia mais curvar-se? Tinha. Tinha tudo por que suspirava, por que sonhava, por que ansiava? Tinha. Não lhe bastava um bilhete — remeta pelo portador vinte meadas de linha, uma cesta de frutas, um quintal de verduras,
dez libras de carne, dez libras de peixe, quatro galinhas gordas, o que lá fosse! — não lhe bastava mandar um bilhete, mandar um recado de boca, para que tudo lhe chegasse? Que queixa tinha, que coisas remoía, seria possível que nunca estivesse satisfeita? Se continuava com sua escola, era porque queria e, por isso mesmo, quanto não custava a ele comprar lousas para aqueles meninos miseráveis e imprestáveis, comprar mais comida que para um batalhão — então, então, então, vinha a senhora dona Jesuína fazer ares de que era boa mãe de filho mau? Vamos e venhamos, vamos nos enxergar! Dona Jesuína pareceu arrepender-se de alguma coisa, talvez de tudo. O rosto já se pregueando para chorar, estendeu os braços na direção do filho, pediu entre soluços que a perdoasse, se fazia aquilo era por tanto amor que lhe tinha, por tanto orgulho e admiração que ele inspirava. Se tivesse sabido que seu filhinho, nascido em berço mais que humilde, mestiço e bastardo, chegaria àquelas alturas, um homem importantíssimo, teria estourado de felicidade antes de conseguir criá-lo. Não ficasse com raiva dela, eram fraquezas próprias de um coração de mãe — como poderia ela jamais esquecer o desvelo e a atenção que lhe votava o filho, a preocupação em que nada lhe faltasse? Não, não era ingrata, é que lhe doía tanto, embora compreendesse perfeitamente as razões, que não pudesse dizer a todos, como gostaria, que o grande comerciante e respeitado cidadão Amleto Ferreira era seu filho, seu próprio filho, por ela parido, amamentado, limpado, curado, sofrido e criado. Já lhe doía tanto que, ao saber do batizado de seu novo neto — como se chamava ele? —, não pôde resistir à vontade de vê-los, mesmo que, como os outros, fosse crescer sem saber que era neto dela, não tinha importância, queria somente vê-lo. Mas agora compreendia como havia sido uma imprudente metediça, por favor a perdoasse, não se aborrecesse, fora somente uma coisa impensada, um ato que não se repetiria nunca, ele podia ter certeza. Amleto enterneceu-se, tremeu-lhe o queixo, andou para a mãe, tocou-lhe as mãos, quase a abraçou. Ah, senhora minha mãezinha, se pudesse abraçar-te e envolver-te em meus braços, era o que fazia agora! Ah, mãezinha, bem sabes quanto me dói também esta situação, pensas que não tenho sentimentos, que não choro à noite em pensar na minha mãezinha lá sozinha e eu sem poder nem sair à rua com ela! Se não fossem essas malditas negras tagarelas que aqui podem entrar a qualquer momento, ou algum dos meninos, que hoje é domingo e de nada se ocupam, se não fosse isso, cobrir-te-ia agora de beijos e afagos, bem sabes que o faria, adorada mãezinha! Mas não sabes, diz-me, diz-me, por caridade diz-me, não sabes que isso, esta horrível situação, é para o nosso próprio bem? Sabes nada, sempre parece que não sabes! Mas entendes, não entendes, mãezinha adorada? É para o nosso próprio bem, não sabes? Sim, ela sabia e sabia também dos seus dele sofrimentos, pois lhe conhecia de sobra os bons sentimentos e não lhe ocorria um sequer defeito. Mas não poderia, talvez, assistir ao batizado, mesmo discretamente, à distância, sem se meter nas conversas, sem sair de seu lugar, apresentada talvez como uma ama de leite da infância dele, uma criada mais chegada, uma ama-seca ou governanta? — Governanta? — exasperou-se Amleto, revirando os olhos para o forro. — Senhora dona Jesuína, meus filhos têm uma governanta inglesa e uma preceptora alemã! Meu Deus do céu, que recheio há na cabeça da senhora dona Jesuína? Governanta, essa agora! Meus filhos
com uma preta por governanta, não vês, não enxergas a realidade? O mundo não é tal qual o queremos, mas tal qual é! — Desculpa-me lá, falei errado. Mas uma criada, uma ama-seca... — Não, não, muito arriscado. Podem bispar semelhança entre nós, é possível que já alguém tenha ouvido um comentário ou outro e agora o venha a confirmar. Não, não, por que não deixas dessas ideias tontas e não vais à tua missa como sempre e depois não vais cuidar de tuas flores? Olha, mando-te umas mudas de cravo que me vieram de Portugal, mando-te uns livros, uns folhetins dos que tu gostas, fica isto esquecido. Então? — Mas não vejo mal, como criada, como ama velha... Depois, quem ia ver parecença entre nós, tu tão branco, tão alvo, cabelo tão liso... Amleto passou a mão sobre a cabeça. — De fato — concordou. — Os cabelos lisos e meus traços, que saíram finos... Mas não, não, ainda acho que seria uma temeridade. Esquece tua ideia, anda, esquece. — Já não tens o que arguir, bem sabes que a presença de uma ama velha no batizado é até coisa de ricos, coisa de família de tradição, que agracia seus negros e criados. Amleto fez uma pausa nos passos que continuava a dar ao longo da mesa. — Bem, o que não faço por ti? Mas vê lá, hem, vê como te portas, és a ama que me criou e assim te portarás, não te perdoarei se me traíres a confiança! Os rins chegavam, Luzia pôs o prato na mesa, ficou de pé junto à cadeira onde Amleto se sentou. — Pois então, dona Jesuína, pois estamos entendidos — falou ele, enfiando o guardanapo pelas dobras do colarinho. — Agora, se me dá licença, tenho o meu repasto a fazer, esteja à vontade. Luzia, o molho de cheiros-verdes?
Eram já nove horas da manhã e o dia ficara de uma extraordinária transparência, tão claro e fresco que se diria estarem os convivas a cavaquear numa quinta de Sintra, numa dessas louçãs manhãs d’abril em que até mesmo as urzes mais ásperas parecem reverdecer e olorizar os campos. Amleto mandou abrir as portas do gabinete — na verdade uma vasta biblioteca de atmosfera sombria, dois cômodos espaçosos separados por uma arcada de padieira em jacarandá lavrado, coberta por uma cortina de gorgorão achamalotado presa a meia altura — e escancarar as janelas. Não chegou a ficar muito claro dentro daquelas recâmaras cavernosas tão recortadas por desvãos, recessos e protuberâncias, as estantes colossais eriçadas de ornamentos convolutos, aqui e ali um entrefolho oculto, uma espécie de toca, um reconditório inesperado, acolá duas canéforas de aspecto aterrador sustentando uma mesinha de madeira preta minúscula para suporte tão formidável, volumes encadernados em cores soturnas, as iniciais AHNF-D gofradas como um escudo nos frontispícios e lombadas, papéis de todos os tamanhos, mata-borrões e penas arrumados com requintes, um vaso de cristal cheio de rosas amarelas brilhando solitário em cima de uma cantoneira. Mas, junto às portas que davam para o terraço, a luz se refletia tão fortemente que, ao acomodar a pequena companhia masculina que o seguiu e sentar-se em seu fauteil, Amleto era um senhor de terras solares, iluminado pela malha clara-escura do sol peneirado pela ramagem das árvores. O vinho do Porto, soltando uma faísca ou outra naquela iluminação, talvez lhe viesse à cabeça também por
outros caminhos que não o do estômago, e Amleto, desculpando-se com bonomia por refastelar-se e cruzar as pernas, riu da comparação com Sintra, que havia sido feita pelo sacerdote oficiante, monsenhor Bibiano Lucas Pimentel. Curiosamente, em contraste com sua reputação de inflexível severidade, o monsenhor se revelava quase um folgazão, fazendo um comentário espirituoso atrás do outro. Muita simplicidade para homem do clero que gozava de tanto prestígio, orador sacro de amplíssima nomeada, animador de obras educativas nunca antes por aqui sonhadas, aristocrata que denunciava suas origens pelas batinas de seda perfeitas, o perfume delicado que exalava, as maneiras de quem desde miúdo havia sido bem acostumado. Deu uns passinhos apressados até a varanda, olhou para um lado e para outro, voltou tão rápido quanto saíra, examinou a parte da biblioteca onde estavam. — Sim, senhor! Eis-nos cá então dentro da leoneira onde o senhor Amleto Henrique Ferreira-Dutton constrói à sorrelfa sua dilatadíssima fortuna! Riu das próprias palavras, deixou bem claro que havia pretendido fazer graça. Amleto acedeu, também riu mas sem mostrar os dentes, de um jeito que estava praticando ultimamente, por considerá-lo o mais adequado na maior parte das ocasiões sociais. — Vossa Reverendíssima está mesmo com a veia satírica apontada contra este vosso servidor, que nada fez para merecer a verrina. Primeiro, compara esta casita a uma quinta de Sintra, retiro de nobres e potentados. Depois, chama-me de fera — como direi? — de fera sorrateira, solerte, e menciona uma fortuna que eu mesmo nem sei onde se encontra, quanto mais tê-la. O monsenhor sentou-se, recostou-se confortavelmente. — Mas não são verrinas, senhor Amleto, são a verdade. Ao contrário dos animais úteis, como o cão, a vaca, a galinha, os nomes de animais ferozes constituem elogio a quem é por eles apelidado. Assim é com o leão, o tigre... Então, ao chamá-lo de leão, não o tenho por fera, senão por lutador invencível e fortíssimo, capaz de capitanear — e eis aqui a segunda verdade — uma inegável fortuna, uma grande fortuna que, mercê de Deus e da competência de Vossa Senhoria, faz por aumentar a cada dia que passa. Amleto sentiu as orelhas quentes, achou que talvez tivesse ruborizado. — Encômios imerecidos... — murmurou, querendo falar algo mais interessante, mas, em sincera comoção pelos elogios, não encontrava o que dizer. — Merecidos, sim! — uma voz grossa, de acentos um pouco grosseiros, falou do outro lado da arcada, e logo em seguida o seu proprietário, major Francisco Gomes Magalhães, chefe de polícia e padrinho de Patrício Macário, apareceu com um cálice na mão. O nariz estava vermelho e, embora não se pudesse dizer que se encontrasse bêbado, tampouco se diria que se encontrava sóbrio, o que se notava pelos seus passos excessivamente seguros e pelo tom de voz ainda mais alto que o habitual. — Merecidos, sim! Ouvi o que disse, com a eloquência que não há cessar de gabar, Sua Reverendíssima, e assiste-lhe plena razão! Maior do que o senhor Amleto Henrique só mesmo o seu filho, meu afilhado Patrício Macário! Haha! Este sim, que há de ser mais que filho de quem é e afilhado de quem é! — Não sei — disse Amleto. — Não sei. Não por suas qualidades, que, se as herdou da mãe pela metade, herdou mais em virtudes que a maior parte da Humanidade, digo-o fugindo à falsa modéstia. Mas temo pelo nosso futuro, sinto que vivemos tempos conturbados, sem paz nem confiança no porvir, sem o respeito àquilo que nos ensinaram a mais prezar,
como sejam as virtudes da probidade, da temperança, do espírito público. — E veja-se que, pela primeira vez em nossa História, estamos sendo governados por brasileiros! — interrompeu monsenhor Bibiano. — Sim, mas isto não quer dizer nada, quererá talvez dizer o contrário do que pretende Vossa Reverendíssima, com toda a vênia de Vossa Reverendíssima — disse o major. — Eis que, se têm sido brasileiros os regentes, tudo o mais, do Exército aos comerciantes, tudo o mais é português. — Não é bem assim, meu caro senhor chefe de Polícia, sabe muito bem que é um pouco assim, mas não é tanto assim. E, por favor, não me veja cá o senhor chefe de Polícia como advogado da recolonização. Não sou desses exaltados, que chegam até o separacionismo, se assim posso dizer, ao republicanismo mesmo, mas o que queria dizer é que encaro com simpatia o movimento pela maioridade de Sua Alteza Imperial. Alinho-me, pois, com os liberais esclarecidos e há Vossa Excelência de reconhecer que não temos tido boa sorte com os governos regenciais. As perturbações da ordem pública, a sedição e a anarquia em toda parte não lhe parecem inquietantes, senhor chefe de Polícia? Aqui mesmo na Bahia, se não laboro em equívoco, esteve Vossa Excelência arduamente empenhado no combate à sedição, tendo feito renome na já famosa Batalha dos Três Dias, há bem pouco tempo, bem pouco tempo. Se sou português de nascença, sou brasileiro de coração e, se falo como português, isto mais se deve ao escrúpulo de quem preza a língua e não deseja aviltá-la com uma maneira de falar imprópria e desaconselhável. Não precipite Vossa Excelência, por grande obséquio, as conclusões de Vossa Excelência. — Não, queira Vossa Reverendíssima desculpar-me, mas não quis dizer isto. É que, nessa questão do futuro do Brasil, tenho até divergências com meu preclaríssimo amigo e compadre, termino sempre por exaltar-me, queira Vossa Reverendíssima perdoar-me, longe de mim pensar mal da conduta absolutamente inatacável e louvabilíssima de Vossa Reverendíssima. Mas vejo, efetivamente, vejo um futuro radioso para o Brasil, um futuro somente comparável ao das grandes civilizações pretéritas. Eis que somos dotados de tudo o que é necessário para o progresso e a riqueza. Aqui mesmo, em nossa parte do país... — ... estamos sujeitos a terríveis e prolongadíssimas estiagens, que castigam toda a agricultura, a criação do gado... — Perdão, monsenhor — interveio Amleto. — As secas, como se chamam essas estiagens, não são tão más assim. Antes, pode-se talvez ver nelas a garantia da ordem social e da economia estabelecida. Por exemplo, somente através da penúria engendrada pelas estiagens é que o pequeno proprietário se rende à evidência de que sua atividade será sempre de minguada e insignificante produção, assim possibilitando que os grandes proprietários — os únicos que podem levar para aqueles ermos o progresso, já lhes direi por quê — possam comprar-lhes as terras, e a preços convenientemente baixos, pois do contrário seria uma inversão de recursos desmesurada, quiçá insuportável. E digo-lhes por que somente o grande proprietário é que pode levar o progresso a todos esses vastos rincões. É que só ele pode pleitear junto às autoridades, com prestígio e peso político, as melhorias necessárias, as albufeiras a serem construídas, a açudagem a ser empreendida e benfeitorias desse quilate, com as quais a estiagem deixará de ser um empecilho à produção. E só o grande proprietário é
que pode reunir o capital necessário, os conhecimentos e as inversões necessárias para que a produção seja de molde a atender às exigências comerciais, que são cada vez mais complexas. Portanto, a seca cumpre um papel importantíssimo, efetuando algo que, para ser realizado artificialmente, requereria, estou seguro, até mais que a força das armas. E, além disso, com que mão de obra contará o grande proprietário, eis que a escravatura tende a extinguir-se? O major estava boquiaberto desde a metade do discurso de Amleto, continuou assim, pasmo de admiração. O monsenhor também demorou a falar, depois cumprimentou vivamente o anfitrião pelo brilhantismo e caráter inovador de seu raciocínio. — Apenas não creio que esteja próximo o fim da escravatura. Crê o senhor Amleto que poderemos mesmo sobreviver sem ela, que ela será extinta? — Tampouco eu acho que seu fim está próximo, não sei quando será. Mas sei que virá e, se motivos outros não houvera, embora pouco me digam respeito, virá pelo motivo mais poderoso de todos, qual seja o de que terminará por tornar-se pouco compensador e excessivamente caro manter escravos. Eu, no meu trabalho, lido com eles e posso assegurarlhe que as despesas são incalculáveis, são de fazer estremecer o mais frio financista. Dia chegará em que os custos se tornarão de tal forma onerosos que melhor será pagar por obra feita do que, ingenuamente, achar que, com escravos, temo-la de graça, pois não a temos. Imaginem os senhores um fazendeiro que necessite apenas de mão de obra para plantio e colheita, uma vez ou duas por ano. Durante o resto do tempo, não terá em que empregar os negros, mas terá que alimentá-los, dar-lhes roupa, casa e remédios, para não falar nos imprevistos, que surgem a cada dia. Com isso, se encarece a produção, pela necessidade de cobrir esses custos, se empobrece o proprietário porque é cada vez mais difícil cobrir esses custos e assim por diante. Ora, compare-se isso com um trato de obra feita com trabalhadores livres, que só recebem por aquela obra, sem que tenha o fazendeiro a obrigação de dar-lhes o que dá a seus escravos. Não creio ser necessário pensar em demasia para concluir pela inevitabilidade da extinção da escravatura, mais cedo ou mais tarde, do contrário estaremos condenados ao atraso perpétuo. Esse contingente que, na nossa região, poderia, com o tempo, vir a compor-se de pequenos proprietários, não se tornará nisso, por inexoráveis circunstâncias geográficas e históricas. Assim, juntamente com os habitantes pobres do sertão, serão eles a mão de obra da Nação, nos termos que a Nação necessita, para evitar o desperdício e o excesso de custos. Sei bem que tal situação poderia levar à existência de grandes massas de desocupados, despossuídos e vagabundos em geral, como já hoje acontece. Mas isto, em primeiro lugar, é inevitável, não vejo como evitá-lo, se bem que o feitio do nosso populacho, que é zombeirão, folgazão, de poucas necessidades e acomodado, alivie em muito a questão. Mas, ainda assim — tenho meditado muito sobre este assunto, meus senhores —, julgo que, com a manutenção da ordem pública a cargo de uma organização como a Guarda Nacional, em tão boa hora e tão sabiamente constituída — e cá está o senhor major, que não me deixa mentir —, não haverá problemas, pelo contrário. De novo, como no caso das estiagens, é preciso inverter a ótica, ver o bem, disfarçado em malefício, contido nas aparências. Essa gentalha, pela sua natureza rude e primitiva, fetichista, bárbara, insensível e ignara, não tem ambições senão as que lhe ditam seus parcos horizontes. Por conseguinte, a tendência natural é que se voltem uns contra os outros, não contra nós, a não ser que afrouxemos a preservação da disciplina social. Haverá, por assim dizer, uma seleção
naturalmente conduzida, desaparecendo os que não reunirem condições de enfrentar a vida com seus próprios meios, nem ao menos no serviço — para o qual estão amplamente indicados — do Exército, naquilo em que não ferir a universalidade da Guarda Nacional, em tão boa hora concebida, repito. E desfrutarão, ainda, esses contingentes, de liberdade, bem por muitos considerado entre todos o mais precioso, o qual lhes concederemos de graça, à condição tão somente de não a transformarem em licenciosidade nem dela se servirem para a comissão de abusos. — Mas não crê o senhor Amleto que o nosso povo... — Observe bem o caro major e compadre, usamos as palavras muitas vezes sem atentar na sua propriedade. É o que percebo agora, data venia, pois que a longa convivência e frutuosa amizade que nos une já me fazem antecipar o que ia dizer o major. Mas, vejamos bem, que será aquilo que chamamos de povo? Seguramente não é essa massa rude, de iletrados, enfermiços, encarquilhados, impaludados, mestiços e negros. A isso não se pode chamar um povo, não era isso o que mostraríamos a um estrangeiro como exemplo do nosso povo. O nosso povo é um de nós, ou seja, um como os próprios europeus. As classes trabalhadoras não podem passar disso, não serão jamais povo. Povo é raça, é cultura, é civilização, é afirmação, é nacionalidade, não é o rebotalho dessa mesma nacionalidade. Mesmo depuradas, como prevejo, as classes trabalhadoras não serão jamais o povo brasileiro, eis que esse povo será representado pela classe dirigente, única que verdadeiramente faz jus a foros de civilização e cultura nos moldes superiores europeus — pois quem somos nós senão europeus transplantados? Não podemos perder isto de vista, deixando-nos cair no erro abismal de explorar nossas riquezas e nossa virtual grandeza para entregá-las a esse tal povo, que, em primeiro lugar, não saberia como gerir tão portentosa herança, logo a aviltaria, como sabe, aliás, quem quer que já tenha tentado dar conforto e regalias a escravos e servos, pois não atinam com o que fazer desse conforto e dessas regalias. — Lá isto é verdade. Dá-se a esse povinho alguma coisa... — É o que digo, meus caros senhores. É preciso ver com clareza, com lógica, sem pieguismos. Temos diante de nós talvez a mais hercúlea tarefa já posta diante do homem civilizado. E, praza aos Céus que esteja errado, é nisto que se fundam meus receios quanto ao futuro. É no medo de que deixemos o Criador fazer sua parte e não façamos a nossa, é disto que tenho medo. Que somos hoje? Alguns poucos civilizados, uma horda medonha de negros, pardos e bugres. Como alicerce da civilização, somos muito poucos, daí a magnitude de nosso labor. Mas, no que depender de mim, e tenho certeza de que dos senhores também, o Brasil jamais se tornará um país de negros, pardos e bugres, não se transformará num valhacouto de inferiores, desprezível e desprezado pelas verdadeiras civilizações, pois aqui também medrará, mercê de Deus, uma dessas civilizações. — Já pensou o compadre alguma vez na política? Olha que, com verbo tão fácil e razões tão claras... — Não, não, odeio a política, sou um homem perfeitamente apolítico. Meu trabalho dá-se em outras linhas que não as da política. Que me perdoem os políticos, nada tenho contra eles, mas a sujidade da política, se me permitem a rudeza da expressão, me enoja. Não, não, prefiro ficar em meu canto, como o membro mais humilde das classes produtoras, fazendo por
onde ampliar a riqueza concreta do meu país, é tudo o que quero. Não ambiciono — e Deus me guarde de ambicioná-lo — o poder. Falou estas últimas palavras em tom contemplativo, quase ensimesmado. E, assim, a vibração cívica que já tremeluzia na biblioteca arrefeceu-se um pouco. Era um dia bonito demais para a persistência em tais esforços. O monsenhor, fechando os olhos e balançando a cabeça lentamente, como se cantasse uma canção antiga, mencionou frouxéis de nuvens álbidas, esgueirando-se por entre a ossamenta desgalhada de centenárias árvores, foi escutado com suspiros evocativos e expressões pungidas. O major serviu-se de mais vinho do Porto, o monsenhor pediu um cálice e logo o repetiu, Amleto os imitou, o doutor Noêmio, vindo lá de dentro em companhia do velho comendador Almeida, declamou alguns versos sobre andorinhas nos verões mediterrâneos da Baía de Todos os Santos. Quase às onze horas, quando foram chamados para o almoço, estavam muito felizes. Amleto, de braços dados com o monsenhor a caminho da sala de jantar, comentou que haveria arroz cozido, em deferência ao gosto dos convidados. Ele próprio já fora “papa-arroz”, já experimentara até farinha de mandioca, que hoje lhe sabia a serragem seca. Mas Miss Bennington, a governanta inglesa, o havia educado em pouco tempo — o monsenhor conhecia as delícias da culinária britânica, em que, como em tudo o mais, aquele povo admirável era a imagem da excelência? Arroz, só em pudim, única forma aceitável de comê-lo. Era chamado de rice pudding, se não se enganava — apresentando a segunda palavra a peculiaridade de não se pronunciar pádingue, como seria de esperar-se, mas púdingue, era das muitas exceções da riquíssima língua inglesa, quase o dobro das palavras portuguesas. Gostavam de carneiro cozido ao molho de hortelã? Ah, havia muito o que aprender com os ingleses! Queixavam-se os fabricantes brasileiros — no geral uma súcia desconchavada de artesãos despreparados e atrasados — de que os produtos ingleses tinham vantagens artificiais sobre os produtos aqui feitos, ou atamancados, melhor dizendo. Por quê, por causa das tarifas aduaneiras baixas? Mas de toda sorte havia tarifas aduaneiras e, mesmo assim, o que cá se fazia era mais caro e muitíssimo inferior. Juntem-se dois e dois, meu caro monsenhor, e teremos quatro todas as vezes, querem tapar o sol com uma peneira, como se diz vulgarmente? Não é assim que se vence a concorrência, não é verdade? Sou pelo livre comércio, é a única forma de progredirmos em nossas indústrias, se é que podemos dizer que temos indústrias. É como essa questão do povo, que estávamos tangenciando há pouco. Quem fez a fama e a glória de Roma foram os Césares ou os escravos e a plebe? Temos de nos mirar no exemplo dos ingleses, cuja bandeira... Mas não terminou de falar sobre a bandeira inglesa porque, já à entrada da sala, viu a baronesa, andando com dificuldade e amparada por seu filho Vasco Miguel. — Ah, senhora dona baronesa de Pirapuama! — exclamou, precipitando-se na direção dela com as duas mãos estendidas. — Senhora minha, dona baronesa! A baronesa estava atacada pelo reumatismo outra vez, padecia de terebrantes pontadas nas costas, que a curvavam em posições esdrúxulas e lhe davam um perpétuo ar de pranto às feições — ai, senhor Amleto, Deus me pôs cá a cruz às costas por essa pleurodinia inclemente, ai Deus meu! Mas por que viera, havia de ter-se excusado, os dias estavam tão frios, ah senhora dona baronesa, mas que sacrifício que faz por nós, não tomou Vossa Mercê, se me é permitida a pergunta, um chazito de casca de salgueiro? Tomara, sim, mas já tanto dele tomara que não lhe fazia mais efeito. Amleto ouviu-a
com a expressão aflita, pegou-lhe as mãos, caminhou com ela lentamente até sua cadeira, ajudou-a a sentar-se com desvelo. Olhou à socapa para Vasco Miguel, formado pela Faculdade de Medicina da Bahia mas desocupado, um rapaz macilento de tão descolorado, o queixo inexistente, os dentes montados uns nos outros, a cintura demasiadamente alta, realçada pela pélvis empenada para a frente. É, mas se tivesse que ser, seria — pensou, achando que a filha não tinha ainda nem juízo nem senso, por isso não compreendia as razões para o casamento. Era bem verdade que Amleto cogitara de outro destino para ela, tivera fantasias, erigira grandes castelos escoceses no ar, folheando as gravuras dos livros de viagens. Mas não se vive de fantasias, vive-se de um sistema de decisões implacável, como ele vinha aprendendo custosamente pela vida afora. O rapaz não era rico, mas era branco; não era inteligente, mas era nobre; e podia dar-se bem, pois em sua profissão, como em todas, são melhores os bons relacionamentos do que a habilitação; e, pormenor mais que atraente, significava que, no futuro, não deveria haver pendência sobre os bens do barão ou da baronesa, pois, afinal, tudo estaria em família. É, é coisa a considerar muito seriamente, muito seriamente. Carlota Borromeia Martinha estaria doente, como estava sempre que aparecia na casa o Vasco Miguel. Que ficasse, eram artimanhas femininas, não havia que levá-las em conta. As mulheres, doma-se! Não sei, não sei, mas, se é a própria baronesa quem quer e sugere, por que não? Teolina não concordava nem discordava, não gostava de intrometer-se nos assuntos masculinos, tanto melhor. Olhou mais uma vez para Vasco Miguel, não era tão mau assim, muitos piores havia por aí. Sentando-se com a visão atenta para que tudo estivesse correndo de maneira satisfatória, resolveu comunicar a decisão à filha, tomou mais um golezinho de vinho. Maquinalmente, puxou da algibeira a caderneta e uma lapiseira de ouro, rabiscou com pressa: “Providência: Casamento Carlota B.” É uma Dutton, pensou com alegre determinação, e uma Dutton faz o que é preciso fazer, Deus seja louvado, Dieu et mon droit. Le Roy le veult, podia-se até dizer a esta altura — e como estará o carneiro? Que lindas batatas cozidas!
Arraial do Baiacu, 28 de fevereiro de 1836.
A maior parte das pessoas nada sabe sobre o tatu. Pergunte-se a qualquer pessoa o que é que ela sabe sobre o tatu e ela provavelmente responderá que o tatu cava buracos, e pouco mais poderá dizer. Isto não é justo para com o tatu. Efetivamente, o tatu cava buracos e é tão capaz na engenharia quanto no serviço braçal. O tatu não tem dentes. Quer dizer, bem olhado tem, não na frente da boca mas atrás, umas nonadinhas que nem dentes se afiguram propriamente ser. Ele não morde, mas mastiga, no que dá uma lição da realidade da vida para quem quer ver, pois é como muita gente de duas pernas que não morde mas mastiga e engole, no verdadeiro e no figurado. Mas ele conta com ótimas unhas, fortes, amoladas e dispostas em ancinhos, tanto assim que os que com ele lidam exercem atenta cautela para evitar que ele lhes passe as unhas, coisa que faz sempre que pode. Há muitas raças de tatu na ilha, caçando-se
mais notadamente o chamado tatu-galinha, que é o tatu verdadeiro, como diz o povo, e se conhece pela cor, pelo tamanho e, depois de provar, pelo gosto superior ao de qualquer galinha ou pato. Também se distingue porque apresenta nove cintas. O peba, há quem não coma, porque acha o povo que ele se ceva na carne dos defuntos, pois não lhe é nem um pouco difícil entrar em qualquer cova, rasa ou funda, rica ou pobre. E, de fato, o peba, que também se conhece por costumar ser amarelado, não branco como o outro e mais peludo, aprecia carne apodrecida, bicho morto por peste e outras comidas mais de urubu, de maneira que, antes de comê-lo, é necessário cozinhá-lo muitíssimo para que saiam os venenos, aconselhando-se outrossim que se use pimenta ardida no cozimento, para purgar as reimas. O tatu de bunda mole, denominado por muitos de tatu falso, embora não por falsidade moral como outros bichos, se ausentou daqui faz muito tempo, assim como não se encontra o afamado tatu-bola, o mais bem desenhado de todos, e lembremos que não construiu a Natureza muitos animais de melhor desenho e melhores maquinismos que o tatu. É também mais aperfeiçoado em certas coisas do que o homem, cuja família vem salteada e sem ordem, enquanto a família do tatu vem na mais felicitosa arrumação, não se registrando nela, com toda a certeza, os desgostos que se observam entre os homens. Isto porque a fêmea do tatu pode ter três, pode ter quatro, pode ter cinco ou seis filhos, e todos ou são eles ou são elas, não existindo irmão com irmã na mesma ninhada, decorrendo daí grande facilitamento na criação. Tampouco temos na ilha o tatu que se chama açu e diversos outros nomes — todos, vai ver Deus, mais que mentirosos —, o qual, por narrações e relatos, sabemos ter corpo maior de meia braça, rabo outro senhor tanto, e de seus cascos se fazerem bacias de bom calado — isto, porém, tido e havido na conta de potoca por toda a ilha e por todos os homens de bem. O tatu hoje se caça com cachorros tatuzeiros, que vão lá, desencovam o tatu, matam o tatu e trazem o tatu para o caçador. Antigamente caçava-se com cacete, na hora em que eles saíam para comer, de noite, como até hoje saem. Mas era muito mais difícil, até porque, mesmo cavando ligeiro e fundo, não resulta sempre possível fazer o tatu soltar as unhas do fundo da toca, e ele é bicho até de morrer sem se desprender. Para alguém que não tem dentes, não lhe falta valentia e, para um que não fala, não lhe falta altivez, podendo-se haver como garantido que o que nós pensamos do tatu não é o que ele pensa dele mesmo, pois existe a nobreza do tatu e uns tatus melhores que outros tatus e muitas histórias dos tatus, umas que só nós que sabemos, outras que só eles que sabem, eles preferindo as deles e nós preferindo as nossas. O tatu, ou fresco, ou salgado, ou curado no moquém, de ensopado, de moqueca, de xinxim, até assado ou frito, é comida altamente especial, que quem comeu jamais esquece e, quando vê um tatu vivo, enxerga sempre um volume de comida. Mesmissimamente o peba, tido como mau alimento por apascentar-se em cadáveres, esquecendo o homem de que também vive de comer cadáveres de bichos, até mesmo embalsamados em carne-seca ou linguiça. O homem só admite que ele coma o bicho, não que o bicho o coma, embora o bicho não se importe com isso e continue comendo o homem, seja por merendinhas como as muriçocas, seja por freguesia como as lombrigas, seja por caça como as onças, seja em forma de comida dormida para os peixes e siris — morte no mar —, os urubus e guarás — morte na flor da terra —, os vermes e tatus — morte enterrada. Toda esta ciência e arte do tatu, mais muitas outras observações da Filosofia da Caça e do Alimento, foi Nego Leléu obrigado a escutar com grande paciência nas palavras de Luiz
Tatu, ainda de noitinha, enquanto cozinhavam aipim para comer com xangó seco e mel de engenho, logo antes de saírem para a caçada. Por causa de que Leléu estava metido nessa embaixada era coisa que nem ele mesmo sabia direito, talvez fosse por causa do efeito da tal história de ele estar virando dois, como cada vez mais se dizia. Para ele era mentira, mas de vez em quando se intrigava com um acontecimento estranho ou outro e o povo repetia que ele estava virando dois mesmo, dois Leléus completamente diferentes, na fala, no jeito, no andar, na cara, nas maneiras — tanto que à distância o sujeito já sabia qual dos Leléus lá vinha, tamanha a diferença entre os dois. — Mentira desse povo — pensou em voz alta, e Luiz Tatu, que estava mexendo no fogo e era duro de ouvido, achou que ele perguntara pelo aipim. — Ainda demora — disse num tom catedrático que dava nos nervos de Leléu. — Sem paciência, não se pode caçar nada, não se pode ter nada na vida. E, de mais a mais, ainda é muito cedo, nenhum bicho saiu ainda. Espia aí — apontou os cachorros com os beiços —, veje como está tudo sossegado aí. Eles sabem que vão caçar, estão prontos, mas também sabem que agora ainda não tem caça, o tatu sai mais tarde. Hoje a lua troca? Ou ontem? O aipim precisa mudar a água da primeira felvura senão fica duro, depois tem que segurar bastante a segunda felvura para ele ficar mole e eu só como mole, não tenho mais dentes. O tatu sai tarde à rua. O tatu só sai... — Eu sei, tu me disse — respondeu Leléu, disposto a não se impacientar com Luiz, que já estava virando tatu de tanto comer tatu, falar em tatu e até conversar com tatu. Um belo dia, ele vira tatu inteiro, sai por aí papando defunto. Verdade que não acreditava nessas histórias, mas bem que podia fazer parte natural do mundo que uma coisa virasse outra: a comida que a gente come não vira cabelo, não vira unha, não vira força, não vira fala, não vira tudo na pessoa? Mas virar dois, como diziam que ele estava virando... Queriam deixá-lo maluco, a inveja trabalha de mil maneiras e, mesmo no Baiacu, lugar tão miserável e afastado não podendo haver, de povo mais pobre do que muitos bichos de criação das boas fazendas, a inveja ia procurá-lo, embora ele pouco ostentasse riqueza ou privilégio. Vamos deixar isso para lá, agora não tem mais jeito, estou metido nesta caçada, os cachorros já se assanharam, Luiz Tatu já se abalou, não posso voltar atrás — decidiu. Luiz Tatu retomou ao fogareiro, passou a abanar as brasas distraído, de olho fixo nas fagulhinhas que se ejetavam por baixo da panela. Mas o vento arriou, ficou desnecessário abanar, e ele somente continuou agachado, os braços descansando nos joelhos, o traseiro encostado nos calcanhares. Talvez a fumaça, as brasinhas, o cheiro do carvão queimado, o próprio vento, espantassem os maruins, porque nem os mosquitinhos estavam ali na sua hora costumeira, para quebrar o sossego com ferroadas que não paravam de coçar e o silêncio com os tapas que se tinha de dar onde mordiam. Muito silêncio mesmo, a maré baixa descobrindo o apicum sem fim que ia dar na ilha dos Porcos, o resto de uma faixa carmim quase apagado no céu, um friozinho molhado, os morcegões de frutas avoaçando baixo e de vez em quando se agrupando em bandos na direção das nuvens e da mata cerrada, os vaza-marés e outros caranguejinhos de plantão à porta de seus buraquinhos, a enchente começando a lamber a borda do mangue, um lumezinho bruxuleando na porta da casinha que ficava embaixo do coqueirão, uma vontade mansa, meio boba, meio sem pé nem cabeça, de que aquilo tudo parasse, que não fosse necessário fazer mais nada, quase como se a alma saísse do corpo e
este se tornasse uma estátua e aquela não mais que um vento que a tudo se abraçasse e a nada se prendesse. Nego Leléu, até querendo um pouco virar dois, só lembrava ter-se sentido assim na infância, muito menino como talvez já houvesse sido, quando o deixavam parar um pouco e ficar olhando as nuvens mudar de forma, o chão parecendo que girava emborcando o mundo, a lua diurna alva como uma bola de carimã, o pensamento em algum lugar desconhecido, a cabeça um balão voador. Às vezes podia lembrar-se de que se sentira assim quando menino, lembrava até mesmo de que existiam lugares inexistentes a não ser dentro dos meninos, mas não podia voltar a sentir-se da mesma maneira, podia apenas lembrar. Ah, meninos e meninas, que força há neles que não há em nós, que poder têm quando os amamos, que angústia nos dão quando sofrem, pois que já nos chegam sofrendo injustamente, suas carinhas de angústia nos doendo, seu choro nos castigando, seu desvalimento nos afligindo, suas descobertas nos fazendo chorar à toa! Leléu, embora feliz ou até por isso, enxugou os olhos que lacrimejaram quando lembrou o rostozinho de Dafé, não mais rechonchudo como fora tanto tempo, agora de vez em quando soltando uns relampejos de mulher, mas sempre menininha, uns dentinhos claros, um queixinho atrevido, um cheirinho meio de flor, meio de mel, meio de gente, meio de roupa lavada e açucena, uns trejeitos de deusinha, ah danada! — pensou Leléu, sabendo que estava com um sorriso aparvalhado e se orgulhando dele. Ela nascera antes do esperado, dia 29 de fevereiro, dia mais do que doido para se nascer, vez que assim só se tem dia de anos de quatro em quatro anos. Então não fazia oito amanhã, fazia dois. E não era por isso que ele estava aqui igual a um palerma, metido numa caçada de tatu com Luiz Tatu e ouvindo aquela léria toda de caçador loroteiro? Seria verdade que estava mesmo virando dois? Quem diria que ele ia se meter numa desgraça de uma caçada, ainda mais de noite, ele que não gostava assim muito de mato? Mas Maria da Fé, quando ele lhe perguntou o que queria como lembrança do aniversário, respondeu que queria comer ensopadinho de tatu. Mas já se viu? Por que não quer outra coisa, uma prenda rica, um passeio de barco, um vestido estampado, uma boneca de madeira? Não, quero almoçar ensopado de tatu. E mais — tinha dito ela, com aquele jeitinho ousado de que ninguém conseguia ter raiva —, se Vô Leléu não quiser dar o tatu, não dê, mas depois não venha contar que cumpre o prometido. Mas já se viu uma molecota daquelas, uma iscazinha de gente mal saída dos cueiros, já falando desse jeito? Leléu sorriu outra vez, a moleca tinha inteligência, tinha tutano, aquilo ia ser da pá virada, azougue mesmo. E, pronto, lá se vai Vô Leléu caçar tatu que nem besta, por causa daquela lambisgoiazinha. Podia ter comprado o tatu, mas aí resolveu — estava mesmo virando dois? — que a homenagem certa era ele mesmo ir buscar o bicho, mais a aventura por homenagem do que propriamente o tatu. Quem te viu, quem te vê, Vô Leléu... Se contassem a ele antes, ia dizer que era mentira, ia até se aborrecer. Até mesmo depois do nascimento dela, porque ele já vinha azuretado com todos os tropeços que se acumulavam em sua vida como oitis despencando em março, se lhe contassem, ele desmentia. Sem poder trabalhar em Nazaré das Farinhas, com dificuldade de achar comprador para os negócios, mais caloteiros aparecendo em toda parte, mais umas quatro brigas com os negros de Sorriso de Desdém, aquela menina Vevé ali prenha nas bicas de parir, ele querendo furar uns dois com seu esporão e achatar uns vinte com seu porrete, a tenda de alfaiate sendo perseguida, as raparigas também, tudo dando para trás — e ele ali, tendo de arrastar aquela
mulher enxertada para cima e para baixo, logo ele, que não tinha família justamente para não ter de se amarrar. Então não encarava nem mãe nem filho que ia nascer com simpatia, não gostava nem de ver Vevé. Se acreditasse nessas coisas de azar e má fortuna, acreditaria que ela os trouxera, aquela desgraçada daquela calistona ali atrasando tudo, com sua barriga empinada e suas quase nenhumas palavras. Ainda por cima, a menina nasceu não só antes do dia como antes da hora, por assim dizer. Nasceu quase dentro do saveiro em que viajavam para a Encarnação e ninguém contava com isso, pois pelas contas ela era para nascer em março. Leléu mesmo tinha feito as contas — era muito fácil lembrar o dia em que o barão comeu a negrinha a pulso, véspera de Santo Antônio, festas antigas da baronesa —, então estava tudo bem, levava-se aquela malpropícia para a Encarnação uns quinze dias antes do dia de parir, encomendava-se o aparamento à própria da Hora, em cuja casa ela ia ficar. Mas não, não se sabe se por causa da lua, se por causa da tumbice de Vevé ou da dele, se por causa do balanço do mar, se por causa de intencional ironia do Destino, havendo ele escolhido para parteira uma mulher chamada Maria da Hora, a barriga de Vevé se desfez em águas no instante em que pegaram a barra e ela agarrou o cordoame da proa, sentou, apertou os beiços e se escancelou. — Te segura, aperta essas pernas! — gritara Nego Leléu, que nunca havia imaginado ficar tão inquieto vendo pela primeira vez uma mulher parir. — Já tá chegando, já tá chegando, já vamo chegando, já cheguemos! Mas não tinham chegado e, ao atracarem às pressas, o pessoal de terra segurando a borda do barco com as mãos porque nem tempo de fazer as amarras houve, foram carregando Vevé para a casinha de da Hora com a menina já botando o cocuruto pelo meio das pernas da mãe e, assim que a deitaram, o nascimento se completou. Da Hora nem acreditou que era primeiro filho nem que era de oito meses e meio, uma menina tão forte, de choro tão estridente, um parto que mais parecia uma bufa — ficou desconfiada. E Leléu também ficaria, se não tivesse praticamente testemunhado todos os acontecimentos que levaram àquele parto e se, mesmo enrolada num pano e de olhos fechados, não se visse que a menina era mulata, talvez puxada ao pai. Foi o que se foi vendo mais tarde, pois, apesar da pele azeitonada parecida com a da mãe, os cabelos eram praticamente lisos e os olhos — que lindos olhos tinha a serelepe! — verdes, verdes, verdes como duas contas, tão bonitos que vinha gente vêlos, tinham feito fama. É, mas Leléu não gostava, não queria saber. Agora, em vez de uma, eram duas e resmungou muito quando, na segunda-feira seguinte, saindo pela altura da vazante naquele mesmo saveiro, teve de dar dinheiro a da Hora para o sustento das duas e mais a exploraçãozinha choraminguenta que ele já esperava e mais a ordem para que Nego Sofrê, tomador de conta das canoas de rede Alvorada e Beija-Flor, ambas pertencentes a Leléu, lhes desse peixe quando pedissem, embora atentando para o exagero. As moscas da Quaresma enlouquecidas, enxameando como milhares de demônios miudinhos até nos ocos da embarcação, um calor que abafava como um emplastro escaldado, somente aporrinhação esperando-o na Bahia e a mão estendida de da Hora, aquela gorda mamalhuda miserável somítica que o que tinha de peituda tinha de treiteira, e aquelas duas lá dentro, uma toda princesa que parecia que só falava com duques e querubins de elevada conceituação, a outra mijando, cagando, mamando, chorando, cagando, mijando, mamando, chorando, mijando,
cagando, mamando — muito bem, e eu com isso, mas já se viu, já se viu, já se viu, quanto mais eu quero fazer o que eu quero, mais eu faço o que não quero! Leléu sorriu outra vez, reparou apenas vagamente nos preparativos que Luiz Tatu fazia, remexendo miuçalhas poeirentas, pondo uma faca à cinta, examinando umas correias de couro sebento, cheirando o ar com o nariz tenteante como focinho de bicho, esfregando as palmas das mãos na bunda a cada dois passos, conversando com os cachorros — a-hum, Amizade, lala-hum, Coronel, hum-hum-hum-hum, Filisteu, chô-chô-chô-chô, Bom Culhão, arreia-aí-sô, Lavareda, chô, Pior Valente, siu-menino, Caranguejo, axente-xente, Fubá, ramo-ramo-ramo, Fidargo, ora-mecreia, Excelente, ora me creia! —, fazendo borralha no fogo do aipim, indo buscar a botija de mel de engenho lá dentro, guardada numa gamela com água por causa das formigas. — Eu mesmo cozinho o tatu — pensou Leléu, cada vez mais antecipando a volta à casa e a folia toda com o tatu. Se bem que às vezes sentisse falta da vida de viagens e lutas que sempre levara, não tinha vontade de sair do Baiacu, só saía quando não havia jeito, para arrematar alguns dos poucos negócios que lhe restavam. Havia se livrado de quase tudo, agora só tinha umas casinhas de renda, umas cinco canoas, o sítio do Baiacu com a hortazinha e o pomar, o barco grande de Vevé, o saveirinho, a barraca de peixe da Conceição, o bom dinheirinho enterrado. E precisava de mais? Assim se desfazia de tanta preocupação que, mesmo a idade lhe chegando certeira por todos os cantos do corpo, se sentia muito disposto, mais disposto talvez do que no tempo em que caminhava légua atrás de légua por todo o Recôncavo. Nada para infernar, nem mesmo a raiva contra Vevé, a qual piorara muito no dia em que, esperando peixe na Bahia, ele recebeu o recado de que a da Hora tinha morrido de repente na Encarnação. Quase destrói o barraco a pontapés de tanta a fúria que lhe veio, tomou cachaça outra vez, partiu para matar Sorriso de Desdém com o esporão e não matou somente porque não o encontrou. Da Hora, apesar de interesseira, mexeriqueira, ousada, patoteira e confiada, era quem tomava conta dos negócios dele na Encarnação e, justiça seja feita, era sabida mas não ladra nem preguiçosa. E agora, e agora mais essa, que raio de merda de negrinha azarenta, só podia ser ela, o azar existia, forçoso reconhecer, o azar era dela! E lá se despenca ele para a Encarnação às carreiras, sabendo que a esta altura Nego Sofrê era homem de ter até vendido as canoas, pois pescando e trabalhando é que ele não estaria, isto se podia apostar. E, quando chega lá, que encontra senão mais desespero, Nego Sofrê não querendo sair mais, nem ninguém em todas as cercanias, parecendo que descera o Juízo Final e o dia de amanhã não raiaria. De fato, de fato, de fato, só podia ser influência, não havia mais jeito senão admitir, influência daquela infeliz e sua filha mal gerada, vinda ao mundo numa sexta bissexta, 29 de fevereiro, horário de meio-dia — era quase falta de tino não admitir que alguma parte com elas aqueles infortúnios todos tinham a ver. A causa de todo o medo e consternação não era só a morte de da Hora, de quem muitos talvez nunca sentissem falta. Era a volta do peixe que, segundo muitos, fazia de quatro em quatro anos a viagem até ali, brotado das funduras do oceano onde habitam dragões, serpentes e demais monstros marinhos, para castigar os pecados da povoação, uma espécie de mensageiro do medo, de carrasco do inferno, assombrando com sua enorme boca de mil dentes aquelas águas claras. Primeiro quem o tinha visto foram os moços da Beija-Flor, que
livravam a barra para arriar a rede de tainhas e, quando já manobravam para acertar a canoa na correnteza, um vinco suave nas águas paradas lhes chamou a atenção e imediatamente um terror sem medidas lhes esfriou o sangue: silencioso como a própria morte que representava e tão ameaçador quanto ela, um vulto de lombo azul-cinzento deslizou quase à flor-d’água junto à canoa, do mesmo tamanho que ela e, sem dúvida, capaz de parti-la em duas com um só aperto de sua boca descomunal. Sem ousar mexer mais nem um dedo depois que se deitaram no fundo molhado da canoa, o sol, em vez de esquentá-los, congelando-os numa massa tiritante, procuraram até mesmo respirar sem fazer barulho, enquanto, pela ginga leve da canoa, pelo marulhinho que a passagem do peixe levantava e pelas duas roçadas indescritivelmente longas que deu no casco, numa delas quase o emborcando, sentiam que ele perseverava em sua patrulha assassina, esperando ver a sombra da vítima para atacar. Muitas horas mais tarde, tão assustados que nem mais sangue tinham, procuraram a igreja para rezar, foram confessar os pecados, acenderam velas em graças, um deles se deu a resguardo, os dois outros só a muito custo quiseram lembrar a história para contar. Era a grande tintureira que voltara com seu apetite por bichos de sangue quente, mas alguns não puseram fé, acharam que, sem um mestre a guiá-los, os três moços queriam apenas uma desculpa para a perda da rede que não souberam manejar direito. E até já se esquecia toda a aventura, quando, depois de três dias que o bote de Almiro, com quatro dentro, saíra para os baixios para ferrar umas sororocas, os meninos descobriram na praia, cobertos de siris e sargaços, pedaços de gente mordidos e destroçados, ossos triturados somente com um pedaço de carne ou outro pendentes, a ponto de nem mesmo se saber quantos havia ali, reconhecendo-se quem eram apenas porque o madeirame do bote, quase que só uma pilha disforme de pranchas e ripões estraçalhados, encalhou na boca do rio, a vela rasgada que restara pendurada ao mastro abanando como bandeira de defunto. A tintureira era agora pressentida em toda parte, as penitências se faziam o dia inteiro, até para fome e pestes se prepararam as famílias, o mar abrigando a morte mais medonha e mesmo as águas do rio podendo de repente criar dentes, devastar as margens e quem perto delas se encontrasse. Leléu nem quisera ir até a casa de da Hora, para não estar com Vevé e a menina. Depois resolveria o que fazer com elas, talvez as deixasse ali mesmo, afinal não tinha visto nenhuma das duas nascer. Bem, tinha visto uma delas, mas isso não queria dizer nada, não era pai nem dono de ninguém, não tinha obrigação alguma, elas que fossem para o diabo que as carregasse com todo o desacerto que pareciam portar atrás de si como uma cauda que em todos se enroscava. Visitou a cova de da Hora, tirou o chapéu, fez cara de quem estava rezando silenciosamente, andou até a beira da maré para pensar no que ia fazer. Nem mesmo ouviu os primeiros chamados que lhe fizeram João Dadinho e João Loló, correndo até ele como se a tintureira houvesse nadado até a igreja e estivesse lá mastigando o padre e os altares. Mas não, ela estava ao largo, via-se pela manta de peixes pulando feito loucos à frente do grande dorso mortífero, que dali só se enxergava pelo reflexo azulado de quando em vez marcando a flor-d’água. — Estou vendo, estou vendo — disse Leléu. — Que é que eu posso fazer, não sou o reis dos mares. Todo dia a gente come o peixe — ia dizendo — e um dia o peixe tem de comer um. Mas não disse, ficou escutando incrédulo o que lhe pediam.
— Tá todos dois doidos, doidos, doidos — sentenciou, virando as costas. Está certo, podiam estar doidos, mas que custava Leléu concordar com o que propunham? — Custa meu barco — respondeu zangado. — Se aquele bicho mascou o bote como quem mastiga um carapicu frito, é com meu barco que ele vai palitar os dentes? Mas os dois insistiram. Se ninguém tomasse uma providência, aquele peixe ia ficar ali o tempo que quisesse, talvez até a vida toda, acostumando-se a comer carne de gente e a encontrar passadio fácil. A tintureira tinha o nariz fraco, todos sabiam disso, não era invencível, podia ser arpoada, será que Leléu ia deixar que a miséria se abatesse sobre eles por causa de um peixe tirano? — A miséria é de vocês, o barco é meu. Mas acabou mudando de ideia, eles que fossem atrás da tintureira, bastava querer encostar no bicho para ele sumir, era sempre assim. E, além disso, não deixava de ser interessante o pormenor que lhe passaram. Pois não era que diziam contar com a orientação e comando de Vevé, a qual se arrotava conhecedora do mar, da pesca e do combate a peixes brabos? Ele tinha ouvido essa conversa, sabia de Turíbio Cafubá, que por sinal fora uma boa besta conforme o conhecimento geral, e sabia dessas gabolices de que ela era pescadora — chega, levem a peste do raio da desgrama da arreliada da moléstia da bosta de embarcação, cês sabem o que eu quero de vocês? O que eu quero é que vocês passem mal, me deixem! Nem disse nada a ela, como ela também não lhe disse, quando, pouquinho mais tarde, juntou-se aos outros perto da rampa, para ver a saída da lancha Presepeira, levando João Dadinho, João Loló, uns quatro negros fragueiros e Vevé, parecendo até que entendia mesmo do riscado, manobrando a cana do leme para montar a barra falsa e ir lá bordejar o peixe. Pensou perversamente que, se a tintureira cumprisse bem o seu papel, até que o livraria de um problema. Comia Vevé, que o atrasava, e comia João Loló, que lhe cobrava por um serviço de feitura de leiras de quiabo, pimentão e hortelã, serviço este muito do malfeito que ele nunca ia pagar, mas que Loló não cessava de lembrar. Bem verdade que podia também danificar o barco, mas a Presepeira era sólida, pau de jaqueira e cedro da melhor qualidade, não era broa de tubarão como aquele botezinho de louro e — Leléu deu um risinho roncado — seria até preço convidativo pelo sossego que lhe viria. Mas não quis continuar pensando assim, abanou a cabeça para sacudir fora os pensamentos, ficou na beira da praia assoviando baixo, enquanto, primeiro empurrada pelo mourão de João Loló, depois de buja e vela grande içadas, a lancha começou a afastar-se. Vevé, saia amarrada por baixo num grande nó como se estivesse usando pantalões antigos, olhou para ele, levantou a araçanga e ele podia jurar que sorriu — agora sabia que sorrira —, a Presepeira deu a boreste, embicou largo afora e foi atrás do peixe. Foi, sumiu e demorou a voltar, todos opinando que já devia estar vazia de gente, a maior parte daqueles metidos já forrando a barriga do bicho, os outros mais ou menos aos pedaços. Leléu, arrependido de ter emprestado o barco e se estranhando muito, não fazia mais nada além de esperar Zezé, a filha de Sofrê, que ficara de vir cuidar da menina — e como era o nome do diacho da menina, falar nisso? — mas não chegava nunca, e então, só porque não aguentava mais aquela choradeira igual a uma verruma pelo oco dos ouvidos, foi segurar a
menina — estava grandinha, a sem-vergonha, pesava mais que um bacorinho de leite —, depois de fechar a porta para ninguém vir apreciá-lo na posição de mucama, quase ama. Jogo essa ordinariazinha logo no mato, aproveito logo para afogar e esquecer? Olhou para o rostinho dela, o choro tinha passado, ela agora metia a mão nos três ou quatro cabelos do peito dele, puxava como se quisesse pendurar-se. — Ai, sua fiadaputinha! — gritou Leléu, com vontade de baixar o tapa nas mãos dela. — Vou te dar um cascudo na moleira, sua peste! Falou com o rosto bem junto dela e, coisa combinada, coisa feita, ela riu. Riu no começo mostrando somente o dente de baixo e os dois de cima, depois dobrando a risada, depois gargalhando, depois agarrando a barba dele, depois com o corpinho se sacudindo contra o peito dele e, quando ele fechou a cara para tomar uma atitude, nem que fosse taparlhe a boca com a mão ou dar-lhe logo um piparote nas fuças para ela se assuntar, ela ficou seriazinha, os olhos verdões arregalados na direção dele, a cabecinha se encostando no ombro dele, a gargalhada passando a sorrisinho, tanta atenção nele como se ele fosse o meio do mundo — teria sido assim que Leléu principiara a virar dois? Leléu sorriu da forma exata como sorrira então. Luiz Tatu entendeu que era pela alegria da comida pronta, fez sinal de que viesse pegar o aipim. Mas Leléu, que respondeu ao sinal sem nem perceber, lembrou apenas que naquele dia caíra no sono e acordara com o braço dormente, na posição em que ficara para não machucar a menina, ouvindo lá fora os gritos de “olha a tintureira, lá vem a maldita, ai bom Jesus que ao diabo matou, ai que deve ter para mais de quatro braças, ai Deus abençoe a Presepeira!” Correu para fora, sem saber como carregando a menina, lá vinha a Presepeira adernando com o peso do bicho amarrado ao costado, o anzolzão de catueiro que havia sido iscado com um quarto de porco espetado na boca monstruosa, o coroque de João Loló também metido lá dentro até o cabo como uma estaca fincada, cortes de facão junto das guelras e no focinho, cinco arpões iguais a bandeirolas plantadas no dorso, vencido como o dragão de São Jorge. No meio da gritaria do povaréu, Leléu correu para o atracadouro, viu Vevé ainda de araçanga na mão, o rosto afogueado, a mão enfaixada do arranhão que tomara na pele das costas do bicho, a postura do general que ganhou a guerra. Sim, senhor, mataram o bicho — pensou Leléu e logo imaginou que o fígado daquele animal devia pesar arrobas, aquele óleo era dele, a carne podiam guardar, mas o óleo era dele. Escarrapachou as pernas da menina nos quartos, correu para a praia para ver fazerem o arrasto do bicho até a areia, gritou para Sofrê que pegasse as coitas e os facões para tirar o fígado, não deixasse ninguém encostar naquele fígado, um frasquinho do óleo valia uma fortuna, servia para tudo. Vevé desembarcou primeiro, sorriu ao ver Leléu, que também sorriu, mas logo se recompôs. — Segure aí seu trambolho — disse, passando-lhe a menina. Mas, desde aquele dia parecia que não queria mais voltar para a Bahia, adiava o que podia, inventava desculpas para ficar com a menina, gostou do nome Maria da Fé, deu para passar um tempo desmesurado carregando-a para cima e para baixo, deu para ter ciúmes dela até com a mãe, deu para reclamar da falta de trato com ela, deu para procurar as comadres para se informar de mingauzinhos e papinhas, quase fica maluco quando achou que ela estava com defluxo e fez ninada duas noites sem dormir — virou outro, outro, outro, ninguém acreditava no que estava vendo. E, quando ia à Bahia, voltava cheio de presentes, reclamava
de novo que não cuidavam da menina, chamava a mãe de desnaturada, exigia para ela roupinha bem passada, cheirosa e engomada, saía para passear com ela e mostrar-lhe as plantas e os bichinhos, dava comida na boca e, no dia em que ela lhe mijou o colo riu tanto que quase teve um chilique, considerou aquilo a coisa mais engraçada que podia acontecer. E foi por causa dela que comprou o sitiozinho do Baiacu, decisão que tomou quando, como fazia muitas vezes, estava perdido em admirá-la dormindo na caminha, sempre achando que já ia embora sem nunca ir. No dia em que ela o chamou de Vô e repetiu, embora ninguém entendesse aquilo e julgasse que era apenas um balbucio como outro qualquer — povo burro, não estão vendo que ela fala Vô quando me vê? —, decidiu que ia viver no Baiacu, criar a menina no sossego, na tranquilidade, sem maldade e sem aquelas conversas de sedição e guerra que agora tanto se ouviam, para inquietação de todos. Não compreendia aquelas histórias, não queria compreender, desconfiava que Vevé, que sumia volta e meia para palestrar com gente estranha, tinha alguma coisa a ver com aqueles rumores, foi enérgico quando ela hesitou em aceitar ir para o Baiacu. — Não vou deixar a menina aqui, para se criar mal e se arriscar a qualquer coisa! — Se arriscar a quê? — Se arriscar, se arriscar, se arriscar! Tu não sabe porque tu vive metida nessas conversas, tu vive cheia de prosa depois que te dei a mestragem de pesca da Presepeira, que pegaste fama de mulher valente, pescadora do peixe que pega o homem pela sombra. Pois muito bem, seje valente, seje matadora de tintureira, assombra o povo como a única mulher mestre de lancha do mundo, faz o que quiseres, mas a menina tu não estragas. Se não sabes ser mãe, sei eu ser avô! Falou “avô” de boca cheia, nem percebeu o que estava dizendo com tanta convicção. E Vevé, que não queria perder nem a filha nem o barco e que do Baiacu podia fazer a navegação que desejasse, achou melhor concordar. Sossego, sossego finalmente, neste canto onde não existe nada e portanto existe tudo. Mas também aqui Leléu cheirava alguma coisa diferente, sentia que essa coisa se estava desenrolando de alguma forma que não podia ver, o ar não era o mesmo de sempre, havia alguma coisa, alguma coisa. Coisa talvez de Júlio Dandão, que com certeza andava metido naquelas brigas de malês, talvez coisa daqueles negros desgarrados das propriedades decaídas do barão de Pirapuama, coisas de gente que, em vez de trabalhar, queria mudar um mundo que não podia ser mudado, por isso que sempre se disse “desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem”, mostrando-se com isso que nada realmente muda, existirão sempre as leis da vida, que não mudam. Aliás, pensou Leléu, quem sabe de alguma coisa, a não ser o sujeito que é avô? — O tição se sacode assim — falou Luiz Tatu, agitando uma acha de lenha com uma brasa na ponta que retalhava a escuridão, e Leléu tomou um susto. Pois não é que já estava nos matos, já havia comido o aipim, ainda tinha uns cisquinhos de farinha com cabaú pelas dobras das bochechas, os cachorros já estavam trabalhando e não vira nada? Reparou que também levava um tição, embora apenas pendurado na mão direita, não empunhado como o de Luiz. — Diacho é isso, Luiz, pra que esse tição? Isso não alumia nada. — Não é pra alumiar, é pra afastar os diabos. — Os diabos? Ques diabos, homem, qual é o diabo?
Luiz Tatu fez novamente sua voz de professor e explicou que Leléu não conhecia matos e, por conseguinte, não sabia dos diabos dos matos, porém ele, Luiz, sabia. Aqui há muitos diabos — disse pausadamente —, não é como na África, que não tem diabo, aqui tem muitos, muitos. De maneira que Leléu procurasse carregar o seu tição muito bem carregado, para evitar algum aborrecimento. E ia continuar a ensinança da sabedoria dos matos, quando estacou à beira de uma touceira de tabocas e apertou os olhos. — Siu-siu-siu! O cachorro Excelente quis entrar pelo cerrado das tabocas, não conseguiu, passou a rodeá-lo sem parar, mudando de direção a cada tantas voltas. — Excelente não desencova — esclareceu Luiz. — Nem ele, nem Amizade, nem Caranguejo, olha aí. Mostrou Caranguejo e Amizade, também circulando nervosamente em torno das tabocas. — Mas é difícil entrar aí, isso é fechado. — Nada, depende do cachorro. Assim em taboca, taquara, essas coisas, Lavareda vai, vai que tu nem percebe como ela vai. Ganindo o tempo todo, Lavareda fuçou as raízes das tabocas e de repente, como se o chão se tivesse aberto só para ela, desapareceu numa espécie de túnel. Bom Culhão, os quibinhas que lhe davam o nome parecendo duas luazinhas pardas, enfiou metade do corpo na cova, agitando o rabo velozmente. E, sem que Leléu esperasse, uma erupção de areia espirrou do outro lado e, atrás dela, desabalado, prorrompeu o tatu em disparada na direção da raiz de uma maçaranduba gigante, correndo muito mais do que suas pernas curtas pareciam permitir. Mas logo a cachorrada lhe caiu em cima, inclusive Lavareda, se espremendo para fora do buraco como um pinto do ovo. O tatu, virado de costas, bufou, deu combate, passou as unhas no focinho de Excelente, mas este, sem dar importância, mordeu-o no pescoço e não mais o soltou até que Luiz chegou perto, com um cacete na mão. — Peba — disse ele. — Tatuzinho bonitinho, vem cá — acrescentou quase com carinho e, logo em seguida, matou-o com uma porretada seca na cabeça. Duas horas mais tarde, quatro tatus no bocapio, tomaram o caminho para casa sem conversar, até os cachorros fazendo silêncio e caminhando em ordem, como se soubessem que a caçada havia terminado. Luiz Tatu ia na frente, Leléu procurava pisar exatamente onde ele tinha pisado, e quase se batem quando ele parou inesperadamente. — Escuta! — cochichou, com o indicador apontando para um lugar indefinido, um pouco para o alto, um pouco para a mata. Leléu apurou o ouvido, escutou o trissado rápido de um passarinho. — Calandra, né não? — perguntou. — Sim, mas a esta hora? — disse Luiz, fazendo uma pausa solene para perguntar alguma coisa cuja resposta já sabia. — Por que a esta hora? — Não sei, é esquisito mesmo. Mas... — Psiu! — Luiz falou, como se estivesse conspirando. — Escute! — Luiz, me diz uma coisa, como é que você, que é meio mouco, ouve um barulhinho destes?
— Só sou surdo pra barulho grosso. Barulho fino, eu não sou surdo. E nem pra barulho grosso eu sou todo surdo. Leléu pensou em discutir, embora já estivesse achando aquilo tudo uma bobagem e quisesse voltar para casa logo, mas o barulho voltou, acompanhado por uma espécie de murmúrio, um canto sem palavras muito longínquo. — Ha! — disse Luiz. — Aviu? As almas! Leléu deu um muxoxo, empurrou-o de leve para que continuassem a andar. O canto, porém, não foi embora, parecia oscilar com o vento que soprava para a contracosta da ilha, Leléu teve um arrepio e um estremeção. Seriam mesmo vozes das almas, vindas dos lados do Tuntum e de Amoreiras? E aqueles chamados abafados que também soavam, às vezes muito perto, como se houvesse gente escondida por ali trocando saudações? O canto do pássaro se repetiu, desta feita próximo, Leléu teve outro arrepio, as vozes e cantos pararam de todo. Bobagem — pensou Leléu —, estou ficando é broco. Mas não quis olhar para trás e respirou aliviado quando, contornando um outeirinho, vislumbraram, iluminada pela lua e pelo seu reflexo nas águas rasas que cobriam o apicum, a chocinha de Luiz Tatu, a ilha dos Porcos, as pontas do arraial. Quero chegar logo em casa — pensou Leléu, planejando a brincadeira que faria com Dafé na manhã seguinte e sopesando satisfeito o bocapio dos tatus. Mas não estava completamente em paz e se incomodava por não saber bem a razão.
9
São João do Manguinho, 29 de outubro de 1846.
Sim, menina, mas por onde anda aquele povo todo da Armação do Bom Jesus, será que as baleias comeram? Ah, como passam as coisas deste mundo, nada do que se constrói é perene, nada do que se faz é bem lembrado além de seu tempinho, nada fica como está, nunca se volta, nunca se volta. Caminhando o viajante pela trilha que leva da casa-grande ao engenho de frigir, verá que as margaridas que a ladeiam estão sufocadas por carrapichos, já nem floram como antigamente. A casa, fechada e silenciosa, ainda se mostra bem conservada, até os frisos azuis da cimalha parecem pintados de novo, a varanda foi varrida recentemente, as janelas se apresentam limpas e lustrosas. Mas lembra um cadáver alindado para o enterro, um grande bicho fêmea morto, que daqui a pouco começará a decompor-se. Há gente por ali, um negro ou outro se movendo devagar, carregando cestos, capinando em redor das árvores, andando indiferentemente pelas vizinhanças do engenho, este, sim, uma ruína desbaratada, paredes corroídas, chapas de ferro esburacadas e retorcidas, o esqueleto do telhado se exibindo em rombos eriçados de caibros quebrados, o mato crescendo nas frinchas da argamassa, o portão despencado por cima de uma escora de varas, galinhas ciscando dentro e fora, um cheiro rançoso entranhado nas paredes, quatro vértebras de baleia, grandes como tronos reais, dispostas em torno de uma caneleira triste. Os negros que ali trabalhavam foram na maior parte vendidos para compradores diversos, outros ainda pagam sua alforria a prestações, outros se espalharam conforme a vontade dos donos, uns dois fugiram, muitos morreram, inclusive quase todos os que conviveram com a Grande Mãezinha Gangana Dadinha, que viveu cento e cinquenta anos e tinha até os poderes de fazer chover e secar, bem como trazia na cabeça tudo o que até hoje se soube na Humanidade — já não existe gente como ela. Os brancos não mandam mais caçar, desmanchar e frigir a baleia como nos outros tempos, mesmo porque agora a costa está sempre enxameada de navios de outras terras, caçando melhor e mais fartamente e aqui mesmo vendendo seu azeite. As baleias ainda aparecem, às vezes em bom número, mas são negócio incerto e arriscado, o comércio hoje é outro, o mundo hoje é outro. Caçar uma baleia aqui, outra acolá, talvez, mas não como antigamente, nada é como antigamente. Até as jornadas de São Gonçalo hoje em dia são uma coisa que só vista para se acreditar e diz o povo que tal se deve à devassidão do dono do novo engenho de cana do Manguinho, o qual, sobre ser festeiro, é amigo de ver seus negros brincar e é gastador — ainda que também se fale que, socolor de bondade, o que ele faz é incentivar, promover e tomar parte em esbórnias. Deus que perdoe o que mal pensa, Deus que absolva o que falsos levanta, mas se sabe pelos antigos, não os antigos do Reino, nem os antigos das costas d’África, nem esses antigos de meia pataca que são hoje o que se acha, mas antigos mesmo, antigos de Preste João, antigos do Reino de Cataia, de Março Paulo na Turquia, do tempo do Rei Herode na Hebreia, dos Doze Pares de França, do Jumento do Senhor, das bestas falantes,
das Sete Maravilhas, antigos do tempo de Dão Corno mesmo, esses antigos, desde o tempo deles que se sabe da natureza do bom santo São Gonçalo, aqui alcunhado de Gonçalinho, por aí já se vê a baixa intimidade. Por que é que, se as vestes de Santo Antônio são de pedra ou barro como o resto dele, as vestes de São José, as vestes de Santo Onofre, as vestes de São Simão, as vestes de todos e todas os santos e santas, as vestes de São Gonçalo por costume são de pano? Vergonha mate-nos, mas a verdade é o primeiro mandamento de quem historia e a verdade é que a saia do santo é de pano para que esse pano se possa levantar e por baixo se veja a falha na santidade de tão famoso santo, qual seja o desmarcamento de seu ferramental, mais de culhões do que tinha São Nereu, mais de vara do que tinha São Moisés, de chapeleta mais que tinha São Priape, mais de tesura que Salomão das Milhares de Mulheres, esta é que é a verdade. Os versos do santo? Mais que imorais. Os cantos do santo? Mais que carnais. Os louvores do santo? Mais que veniais, senão mortais. Os pedidos ao santo? Mais que safadais. As festas do santo? Mais que bacanais, em que se canta
São Gonçalo do Almirante, Casai-me, que bem podeis, Pois tenho teias de aranha No lugar que bem sabeis
— e isso é nas novenas, coisa açucarada, imaginando-se muito bem que lugares são esses onde as aranhas teceram suas teias, no vaso da frente, no vaso de cima, no vaso de trás, podendo ser qualquer ponto do corpo por onde haja racha com fundo ou sem, e elas mostram esses lugares, esfregam esses lugares no santinho, passam a mão nas partes do santinho e ainda batem palmas lá fora, quando os homens cantam
São Gonçalo vem do Douro, Traz uma carga de couro, Do couro que mais estica, O qual é couro de pica.
Como sempre diz mestre Aurelino Fialho, todos os anos há mais de vint’anos juiz da festa e ensaiador dos mais vistosos bandos de pastoras, as comemorações hoje atingem seu ponto fulminante — nada mais, nada menos que a grande pesca do Santo Violeiro, nome por que é também conhecido o Gonçalinho. Mas antes tem de haver as jornadas e a festa, que já vieram do ontem e do transantontem e quem vê assim acha que nem para dormir se parou — a licenciosidade mais ou menos imperando, vamos e venhamos. Ontem, foi o que se viu à luz dos farolins de bambu da praça e foi o que não se viu por trás das moitas, pelas capoeiras, em volta dos muros, dentro dos barcos, qualquer lugar onde ele e ela pudessem aliviar o baixo instinto sem pecar, eis que não se peca quando se vai à marafa na festa do Gonçalinho — é o que afirmam os preceituários mais acatados. E tomem-lhe vivas e revivas a São Gonçalinho sempre no mais ardido entusiasmo, levando as pessoas velhas a desejar a volta do dia em que o governo da Bahia mandava para aqui milícias e outras gentes d’armas, a fim de pôr a ferros os forniqueiros, folgazões, fogueteiros, fandangueiros e fancareiros. Embora não os
falcatrueiros dos jogos de acerto das quermesses, cada qual mais ladrão do que o outro e fonte grossa de alta pecaminosidade, a que porém se entregam os velhos com volúpia, deitando fora seus vinténs nas argolinhas, nas apostas de corridas de ovo em colher, nas laçadinhas de bastidor, na roda da fortuna, nas sortes dos papelotes, nas brigas de galo, nos jogos de bolinhas e mais invenções de festas de largo. E, se o padre Bernabé de ordinário não dá conta da paróquia, com todas as despesas que lhe trazem uma mulher, duas raparigas e nove filhos, três com cada, imagine-se na festa, a qual lhe aumenta em muito as preocupações, pelas muitas barraquetas que manda a família montar na feirinha e que a família mal administra e piormente vigia, eis que se vão dois anos que o padre perde dinheiro numa barraca de sortes, devendo ser o primeiro dono de barraca de sortes e com ela perder dinheiro, ainda mais tratando-se de homem de Deus. Se na Corte se veem danças, adufos, pandeiros, castanholas e bandolins dentro das igrejas, então fica o dito por não dito. Mas como tal na Corte não se vê, nem negras mercadejando safadezas no adro, nem leilões de doces — afronta faço, mas não acho; se mais achara, mais tomara; dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vou entregar, estou entregando, já entreguei! —, nem comedorias desatadas, nem frades a bailar e bolinar, nem guitarras e bandurras taralhando entre saracoteios, nem fidalgos a umbigar pardas e fuscas abertamente, nem cheganças à porta da casa de Deus, nem muito menos os piores afoxés, nem muito menos um santo da Santa Madre Apostólica Romana carregado em tal profaníssima charola ornada de musgos e plantas de baixa extração, nem rufadores de caixas na companhia de castanholeiras libertinas — como tal não se vê na Corte, o escândalo não pode deixar de ser grande. Segue Gonçalinho para a praia na sua caixa de faia toda ornamentada, deixando a viola mas levando o cajadinho de ouro, ali devendo aguardar o rodeio dos peixes, que hoje vêm de todo jeito, de rede, tarrafa, arpéu, fisga, gruzeira, munzuá, até de mão, pois o santo não falha na sua festa. É o que se verifica na hora de jantar, aí pelo meio da tarde, não se encontrando, em toda a praça burburinhante de gente, uma só gamela, um só prato, uma só cuia que não esteja cheia de peixe assado, ensopado, escaldado, de moqueca, até cru mesmo, como o negro Zé Pinima gosta de comer. E a comida do mar, mais que toda outra, não se limita à sustança, mas seus humores salinos irrigam as vísceras de princípios eróticos, os quais por sua vez são acicatados pelo vinho do Porto dos ricos, o moscatel dos remediados e a cachaça dos pobres. Isto ocorre tanto em homens como em mulheres, alterando os freios que aqueles por medo se impõem e estas por conveniência fingem serem de sua natureza, levando a geral incontinência e desregrada afrodisia. Será então por isso que, depois do jantar, já começando a noitinha a cair, pouca gente havia que não se encontrasse foliando na praça ou brincando a brincadeira do bicho de duas costas no escuro. Amanhã, além do mais, é outro dia, sexta-feira e não domingo, não mais festa nem jornada de São Gonçalinho, mas tempo de trabalhar e padecer, conforme é o destino dos homens.
Merinha agora servia na cozinha de uma casa rica do Manguinho e, no portão do quintal dessa casa, muito bonita e de cabelo espichado, a mucama Martina parou para conversar com ela. Martina, que também fora vendida para senhores daqueles sítios, estava de folga por serem os amos dela grandes devotos de São Gonçalo e seu senhorzinho mesmo, filho caçula da casa,
dezesseis anos e muito do fogosinho, estava ali com ela. Se os donos de Merinha tampouco se importavam que ela saísse hoje à festa, por que não vinha também? Por que ia ficar aí de beiço pendurado, muito mal espiando por uma aberturazinha do portão a passagem de um bando, como se estivesse de luto? A vida é curta, a do negro mais encurtada pelo trabalho e pela humilhação, não se pode deixar de aproveitar tudo o que se pode aproveitar. Oxente, menina, está muita gente conhecida lá, até Inácia se abalou do Porto Santo, meio coroquinha mas espevitada que só ela, está o mudo Feliciano de folga do trabalho da caieira, está Nicodemo, hoje um homenzarrão, parece encontro acertado, tristeza não paga dívida, vamos à festa! Merinha olhou para o meninote que viera com Martina, um buço escorrido lhe sombreando a boca, o cabelo encaracolado muito lustroso e penteado para os lados, a expressão de quem tinha bebido a mais da conta, em pé debaixo de uma mangueira na esquina. — Não sei como é que tu faz uma coisa dessas — disse ela, apontando-o com o queixo. — Um frangote desses que não te traz nada, branquinho, senhor como qualquer outro, aproveitador como qualquer outro... Martina não se zangou, sorriu, deu um muxoxo. — Ora, minha filha, tu acha que eu vou deixar de papar um meninozinho limpinho, cheiroso e disposto, tu acha que eu vou deixar passar a ocasião de papar um fidalguinho? Então não sou eu, ainda mais que eu sou filha de Deus também! Eu vou ensinando, vou instruindo, ah minha filha, não pode ter coisa melhor, tu não sabe o que eu boto ele pra fazer! Encostou os punhos dobrados para trás nas cadeiras, riu alto, empinou o queixo, gargalhou com os ombros sacudindo, cutucou Merinha com o antebraço. — Come ele, como eu, minha filha... Ha-ha! Merinha riu também. Quem podia ter raiva de Martina, quem sabe até se não havia alguma coisa certa no seu jeito de viver, quem sabia o que era certo? Olhou novamente para o rapaz, que não parecia impaciente. Ele pôs o chapéu, achou um toco de coqueiro junto da mangueira, sentou-se nele, recostou-se na árvore, espichou as pernas, chegou a parecer que ia cochilar. — Não é bonitinho, não? — perguntou Martina. — O nome dele é Manuel Bento, mas eu chamo ele de Bem-Bem, ele fica todo derretido. Tu sabe que quem garrou foi eu? Ele vivia me passando o olho e eu só me dando por desentendida, eu não gosto de não me dar valor, tem que saber que não está pegando coisa de ouropel, aqui é ouro fino, minha filha! — Remexeu os quadris, pôs as pontas dos dedos juntas abaixo do umbigo, gargalhou novamente. — Mas eu vi que o jeito dele não era por monarquismo, era por inocência e aí, minha filha, quando é por inocência eu não aguento. Eu não garro os nenéns porque nem sei nem por quê... Aí, no dia que eu botei bem o olho naquelas perninhas grossas apertadas nos calções do irmão mais velho, naquela bundinha empinadinha, naquela cara de bacorinho necessitado de conchego, naquele jeito de pintinho querendo asa em riba, não conversei, fui a ele e falei com ele, na hora que estava passando com a bandeja e ele sempre ficava na saída do corredor de mão na cintura para o cotovelo esfregar no meu peito achando que eu não reparava, mas eu só reparando e cada vez eu demorava mais nessas passadas e sempre que eu ia lá dentro ajeitava o peito dentro do califom, subia assim, espie, bico pra cima assim, pra quando passasse no braço dele, ele sentisse o peito descaindo ali e às vezes eu fazia uma paradinha sem olhar para ele,
ia e voltava o peito, tan-tan. Muito bem, numa dessas passadas, virei pra ele e disse: por que não vai me chamar de noite pra pedir um chá? Pra pedir um chá? Ele não percebeu, aí eu ri e olhei bem em cima do volume dele, que nesse calção já fica apertado e quando o homem é donzelo parece que vai papocar e demorei na resposta que já dava pra ver que ele ia subir de costa na parede e então eu disse, sem nunca botar o olho no olho dele: chá. Disse assim, bem encompridado: chaaaá. Não era possível que ele não percebesse, mas mesmo assim, nessa mesma noite, quando chegou na porta do quarto, disse que tinha vindo pedir chá, nisso eu esperando tanto que já me doía. Levantei, cheguei junto dele e disse: chaaaá? Coitado, ele parecia que nem podia se segurar nas pernas, de maneira que eu fui levando ele para dentro, fui levando, sentei, tirei a roupinha dele e me usufruí, gostei bastante. Eu digo assim: meu nenenzinho, branquinho lindo, safadinho, dê bezinho aqui bem aqui em Martinazinha suazinha... Hi-hi-hi-hi! — Mas já se viu, Martina, uma mulher de sua idade, quando é que tu vai criar juízo? Mas já se viu... — Se Deus permitir, nunca, minha filha. Como é, tu vai ou não vai? Não precisa desconservar isso daí, se bem que de conserva nunca serviu pra nada, é o mesmo que frutapão. Mas é só pra esquecer as mágoas um pouco, ver gente, se distrair! Até parece que, em vez de largada de Budião, tu é viúva. Falou isso e se arrependeu, notou o rosto da amiga quase despencar, pôs-lhe a mão na nuca, fez cara de choro, ia falar quando a outra a interrompeu. — Budião nunca me largou — disse Merinha. — Aliás, Budião não. O nome certo dele... — O nome dele não é Budião? Ele tem nome africano? — Não, não, que besteira, deixa isso pra lá. É de batismo Faustino da Costa, é Budião por causa daquela bocona espichada para a frente que nem um budião, a cor acastanhada... — Como é que tu sabe que ele não te largou? Mas se faz bem uns dez anos, criatura, mas se ninguém sabe que paradeiro ele levou! — Eu sei que ele não me largou. — Tu sabe? Mas se tu mesmo me disse que ninguém sabe se ele fugiu, se ele morreu, se ele fez quilombo, se ele voltou para a terra dele, ninguém sabe! Tu sabe, Merinha? Tu tá com o olho de quem sabe, tu sabe? — Sei não, como é que eu ia saber? — Então como é que tu sabe que ele não te largou? — Ah, eu sei, eu sei, a mulher sabe dessas coisas, é uma coisa que vem no peito, uma sensação que dá de noite, um negócio que vem de manhã cedo, um apertume que ataca no meio do dia, uma vasca que chega na hora de dormir. Eu sei! Eu sei que ele nem está morto nem me largou! — Como é que tu sabe? — Tem jeitos, tem jeitos! Essas coisas têm jeitos de saber. Ai dela, que já falava demais naquelas coisas que deviam ser mantidas em segredo, que já nem tinha certeza do que era verdade ou mentira, que recebia recados sem feição de recado, conselhos disfarçados em receitas, saudações inexplicáveis, ajudas vindas do nada,
notícias tão vagas que não se entendiam. Seria verdade o que teimava em repetir Zé Pinto, tão velho que nem andava direito, vivendo de plantar coentro e mastruço nas metades apodrecidas das velhas barricas de azeite que também usara para telhar sua casinhola, tido como demente da lua por sair à noite sem propósito, todos já dormindo e ninguém sensato saindo ao relento? Ele sempre respondia, quando perguntado: da-da-da, minha menina, aquele seu negro jalofo está mais que são e mais que salvo, aquela bisca quebra o quê! Se ela insistisse em perguntar, porém — da-da-da-da-da, minha menina, quem muito quer saber em boa há-se de meter. E ia embora em seu passinho de pato velho, olhando para cima como se estivesse conversando com os mosquitos. Sentiu-se sozinha, muito sozinha, mais sozinha do que todos estes anos, estes meses, estas semanas, estes dias arrastados, estas horas de caracol, estes minutos alongados como fios de calda puxa, este piscar e repiscar de olhos como noites compridas intercaladas por dias sem fim, estes gestos que nunca se concluíam porque ele não estava lá. Mulher guerreira pelo sangue, não sabia disto até que seu tio Júlio Dandão, também sumido desde o mesmo dia que Budião, fizesse com que lembrasse. Contudo, não era apenas uma lembrança do juízo, era uma lembrança da memória do corpo todo, a memória do nariz, a memória dos ouvidos, a memória das palmas das mãos, a memória dos poros, das partes entre as pernas, da boca incendiada pelo fogo das pimentas, de alguma coisa que a despertava enquanto outras a adormeciam. Uma memória, ai dela, partilhada por tantas mulheres como ela, mulheres de qualquer nação, mulheres fraturadas pelo tanto que se puxava delas, pelas vidas de seus homens, como o dela tão fracos na fortaleza, tão necessitados junto a elas, mas tendo que ir, desaparecer em suas empresas e expedições de vida, podendo nunca mais voltar, podendo até esquecer delas, podendo vir a achá-las feias e antigas, e elas, mesmo chorando, se lamentando e morrendo de paixão, não queriam que seus homens fossem de outro jeito, pois de outro jeito não os amariam. Nove anos se passaram, talvez dez, certamente mil e mais cem, e Merinha sabia que seu semblante de Penélope não era só dela, era parte do mundo e da vida das mulheres, da vida das pretas cativas, sempre exiladas não importava onde estivessem, por que tinha de ser assim? Ensinaram-lhe as mais velhas, como a elas se ensinara e se ensinara às ensinadoras: boniteza não põe mesa, beleza no homem para a mulher é fome, bonito é santo no andor, na barriga quero calor. Mas não era verdade, era? Não era, pois o homem belo prende a vista da mulher, atiça a fantasia, convoca o mau comportamento. O homem belo? Ah, o homem belo! O homem belo como um brinquedo novo, o homem belo que desperta orgulho na mulher que o conquistou, a qual o sabe cobiçado pelas outras mas dela, aquele sorriso é dela, aquela intimidade é dela, aqueles modos de galo de rica pluma são dela, aquele lindo homem dela é. Sim, verdade. Mas que faz o homem ser belo? Isto não se sabe, pois não o explicavam as mais velhas. Mais velha número um, que vem de povo plantador de pomares e hortas, acha belo aquele cujos braços desde o avô que se vêm alongando para colher o fruto e rapar a terra, mostrando excelência na sua produção e acato de seus pares. Mais velha número dois, que vem de povo pescador, acha belo aquele que mais se realça num barco, que tem corpo e gestos de navegador, que reconhece a presença do peixe a um relance, que traz o peixe e é respeitado pelo zelo na sua profissão e assim fica belo como todos os que com ele se parecem também ficam. Mais velha número três, que vem de povo guerreiro, acha belo o porte do bom
combatente, admira o que morre mas não perde, se apaixona pelo grande vencedor. Então Merinha não sabe, mas sente que talvez a mulher ache bonito o homem que lhe dê melhores filhos, pois assim, se ela não pode ser como ele, poderão sê-lo os filhos — e os filhos, afinal, são ela. E desta maneira ela se prolonga, preferindo ser a quinta mulher de um homem como ela quer que sejam seus filhos, a ser a primeira de um cuja semente não lhe falaria à memória que traz pelo corpo todo e que a Natureza não permite esquecer, um de quem não quereria parir. Assim é que as mulheres fiéis haverão sempre de existir, fiéis até a loucura, a insensatez, a falta de juízo, isto porque são leais a seus ventres, depositárias valorosas de sua herança, e vai daí que se admira a mulher que espera seu homem, havendo histórias disto em todos os repertórios, e toda mulher, por mais que negue, tem inveja se não consegue ser assim, pois, mesmo que não compreenda por quê, sabe que é superior ser assim. Budião lhe aparecera à noite de repente, como sempre fazia, embora estivessem ambos já no Manguinho, ele no engenho, ela na mesma casa, e ele pudesse portanto mandar avisá-la. Mas preferia sempre chegar de noite e currichiar como um pássaro noturno junto ao portãozinho dos fundos, até que ela viesse atendê-lo. Dessa vez parecia impaciente porque, como ela demorara um pouco por estar dormindo e vestida somente de timão, desatou a piar tão alto que daí a pouco acordaria também os donos da casa, cujos quartos eram bastante afastados do quintal, mas aqueles sons vão muito longe à noite. Saiu sobressaltada, enrolandose num pano e abrindo o portão com os olhos arregalados. Cada dia mais Budião parecia enredado em segredos, passando muito tempo com os olhos em algum ponto vago à frente, sem falar quase nada, sumindo à noite depois de passar com ela não mais que um momentozinho. Muito do que acontecia ele lhe contava, embora de maneira reticente e imprecisa. Havia mesmo uma irmandade secreta, havia muitas irmandades secretas? Por que Júlio Dandão aparecia tanto por ali em seu saveiro e Budião conseguia escapulir para navegar o dia inteiro em sua companhia e de mais outros, sem trazer peixe ou mercadoria, voltando às vezes excitado, às vezes macambúzio? Por que também tinha tantas facilidades nesse engenho? Se o senhor dele era considerado um homem bom, que não prendia os escravos e os tratava quase como gente, que às vezes revelava ter ideias que a muitos já havia rendido forca ou degredo, será que só isto explicaria a grande liberdade de que Budião parecia desfrutar, coisa impossível de acontecer entre cativos? Budião a esperava andando para cima e para baixo quase aos pulos, abraçou-a assim que a viu, pôs-lhe a mão na boca quando ela quis falar. Mas demorou tanto no abraço, pareceu até tremer enquanto a apertava, os braços vibrando como num arrepio de febre, que ela fez força para se soltar, queria olhar para a cara dele, ver o que estava acontecendo. — Que foi? — disse, segurando-lhe o rosto com as duas mãos. — Que foi, o que foi que teve, me conte, alguma coisa teve! — Teve — respondeu ele, depois de longo silêncio. — Teve. Hoje eu parto, vim me despedir. — Despedir? Parte pra onde? Partir? Mas como, de repente, sem mais essa nem aquela? Tu vai fugir? Tu vai fugir, Budião? — Mais ou menos. É uma missão. O capitão Teófilo sabe que eu estou saindo hoje de noite, vou no barco de Dandão pegar mais uns dois pela costa, que já estão esperando, de lá
volto para cá, saímos numa canoa grande pela madrugada com oito remeiros, contando comigo. — O capitão Teófilo sabe? Ah, Budião, eu não posso acreditar, onde já se viu senhor de escravos saber que um negro seu vai fugir e não fazer nada? — Ele não sabe que eu vou fugir. Ele só sabe a primeira parte da missão, que ele combinou com seu tio e com outros, muitos outros, é coisa complicada, muito complicada, muito difícil. — Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada! — Olhe, só tu é que pode saber isso, não porque tu é minha mulher, mas porque é a mulher que é e tem muito serviço prestado. Escuta bem, que não vou repetir, não tenho tempo, parto na preamar, teu tio já está me esperando. Existe um homem que está preso no Forte do Mar, um homem importante, que é comandante de uma força de sedição muito longe daqui, muito, muito longe, no Rio Grande, que ninguém aqui nunca que pode imaginar onde é, mas fica no Brasil. Então, desde que esse homem chegou que se vem fazendo um arranjo para ele escapar do forte e voltar para a terra dele. Isso Dandão não ignorava, como não ignora nada dessas coisas, e de há muito que vem conversando com o capitão Teófilo. Ninguém sabe, porque essas conversas são escondidas, às vezes até dentro de um barco no mar. — O capitão conversa com meu tio? Eu não... — Psiu! Quer ouvir ou não? Nunca te contei uma mentira, se não quer ouvir, melhor, que me apresso. — Não, não, conta-me. — Então Júlio Dandão sabe disso e está ajudando o capitão Teófilo, que pertence a uma gente que quer ver esse homem solto, coisas muito complicadas, muito em segredo para que eu possa contar agora. E amanhã de manhã, com todos os homens já arrebanhados — vai eu, vai seu tio, vai Zé Pinto, vai mais outros, como eu disse —, vamos sair numa canoa grande, encostar ao largo do forte e esperar o homem. Amanhã é domingo, ele tem folga da prisão para tomar banho salgado na coroa e é aí que vai dar jeito de enganar o soldado vigia e nadar para a canoa. Nós então trazemos ele aqui, na canoa mesmo ele já vai fazendo a barba, que lá deixou crescer para não parecer o mesmo quando saísse com ela rapada, vai mudar de roupa, passa o dia aqui escondido, depois embarca num patacho para o Rio Grande. — Mas então vocês vão voltar aqui. E então? Então tu não vai embora, é uma fugida de um dia só. Ah bom, eu pensei... — Não, eu vou com ele. Eu mais Júlio Dandão. — Tu vai? Pra esse lugar longe, na guerra de sedição, com esse homem que tu não sabe quem é? — Quem ele é, se sabe. É, nós vamos. Eu mando notícias. Fale sempre com Zé Pinto, ele vai ficar, ele vai saber de alguma coisa. — E o capitão ficou de acordo? — Ele não sabe dessa segunda parte da missão. Ele só sabe que eu vou como remeiro na canoa. Ele não sabe que tu é sobrinha de Dandão, que tu é mulher minha, que Zé Pinto está metido comigo e Dandão, não sabe nada, só sabe o que é dos cuidados dele. — Mas por quê? Por que você vai? — Tu acha que eu vou querer ser cativo a vida toda? Tu acha que eu nasci cativo? Tu
acha que não existe muita coisa por fazer, não só por mim quanto pelos outros? — Mas tu vai fazer o que lá? Vai servir esse novo senhor, vai ser cativo dele? — Não. Só se precisar fingir, no começo. Eu acho que nós vamos combater nessa guerra, ainda não me disseram tudo, talvez Dandão seja quem sabe tudo, talvez ele me conte o resto na viagem. — Ainda não te disseram? Quem é que te diz essas coisas? Budião olhou para cima, sentiu o vento com a mão. — Essa maré daqui a pouco já baixa de todo, eu tenho de ir. Eu vou mas eu volto, no coração eu fico. Bateu a mão no peito esquerdo, o gogó subiu e desceu, fitou o rosto de Merinha, cobriu os olhos molhados. Ah, que coisa mais estranha, que coisa sem sentido era ter de ir embora, agora que via sua mulher, tão apetitosa, tão nua embaixo dos panos soltos, tão boa de ter já com essas carnes mais fartas que vêm com os anos. Às vezes ele sentia vontade de deixar de existir, de entrar por aquelas gordurinhas, aquelas reentrâncias, pelo meio daqueles peitos cada vez mais abundantes, pelas alamedas daquelas coxas fortes, de se misturar, se misturar e então pararem, então virarem parte do chão, unidos de uma vez por todas, sem nada falar, nada mexer, de nada necessitar senão da vida, os dois uma planta, uma árvore, um ser feito de ambos na mesma medida. Que coisa mais estranha — pensou novamente, olhando o sovaco de Merinha que se mostrava por causa da queda do pano que a cobria, e imaginou se aquele pano não estaria manchado do suor que ela pegara na cozinha, exalando o cheiro que o fazia mais homem do que os outros. Enfiou a cara no sovaco dela, aspirou como se fosse morrer sem ar se não o fizesse, sentiu que o pano aprisionara aquele cheiro, arrancou-o dela com um puxão inesperado. Ela, cuja barra do timão subira até as coxas, se transformou num peito à mostra, outro à beira, uma virilha se descobrindo, os ombros despidos e lustrosos àquela luz encantada. Budião não conseguiu escolher para onde olhar e, no minúsculo, longuíssimo instante em que ela permaneceu ali de pé como a estátua da Beleza, pensou que ia desfazer-se em pedacinhos. Ajoelhou-se, fuçou-lhe as coxas, pôs-lhe a mão embaixo do timão, sentiu-lhe o meio das pernas quente como um fogareiro, levantou o timão e viu, irradiando calor e pulsando chamados entontecedores, o púbis dela aninhado entre seus muitos pentelhos encaracolados, sobre os quais tantas vezes passeara os dedos para sentir as pétalas daquela flor escura desdobrando-se e molhando-se a seu toque, o perfume mimoso da água de cheiro com que ela se lavava mesclado ao almíscar próprio dela, ao olor de embriaguez que nunca cessou de se evolar dali, olor que o obrigara sempre a fazer como um bicho, pondo a mão no meio dela e em seguida no nariz e na boca, os dedos úmidos rebrilhando e recendendo a tudo de bom. — Me dá força — disse ele, encostando a cabeça e a cara no lugar do amor, abrindolhe a racha delicada com dois dedos, encostando ali o pescoço e abraçando-a pelos joelhos. Sentiu que ela separou as pernas um tantinho, levantou a nuca como se quisesse que ela cavalgasse seu pescoço, puxou-a pelas nádegas poderosas, ela afastou mais as pernas, ele quis entrar e lá ficar, abrigado embaixo do Grande Umbigo. Ela, vendo de que de suas entranhas saía mais do que havia nela, saía uma força que até lhe metia medo, gozou estertorando e apertando as coxas contra as orelhas dele, quase o matando nesse abraço, quase morrendo
esvaída. Budião levantou-se, baixou o calção, disse que precisava esporrar nela. Não teve que mexer-se depois que a penetrou, somente se abraçaram muito longamente, ele gemendo e amolecendo as pernas ao derramar-se. Ele ainda se voltou, no caminho da praia. Acenou com o pano dela, que, agitado por seu braço preto na escuridão, pareceu boiar na forma de um espírito. Depois correu para o pontão, encontrou Júlio Dandão impaciente, comentando que achava que ele não vinha mais, já estava pensando em zarpar sem ele. Em silêncio, soltaram as amarras, Dandão tomou o leme, Budião e Zé Pinto tripulavam o velame, montaram a barra com vento de popa, fizeram para a Ponta das Baleias como uma cavala veloz ciscando a água. Antes da meia-noite todos os remadores já estavam a bordo, a vazante formava correnteza para a Bahia. Na Ponta do Duro, desembarcaram, fundearam a lancha, carregaram para o mar a canoa, o borco lustrando da cera que tinha sido passada nesse mesmo dia, as velas estalando de novas, as buchas dos remos reforçadas, tudo na imitação de um barco de ataque e combate. Somente a vela, porque ainda era cedo e não havia pressa, não demoraram muito a chegar à Bahia. Como se fossem pescadores tocaiando tainha, aguardaram o dia amanhecer ao largo do Forte de São Marcelo, comeram peixe na brasa com café e farinha pelas cinco horas, hastearam a bandeirola vermelha que distinguiria a canoa embora não houvesse outra por perto, se acostaram para esperar. Pelas dez horas, Dandão, que dava pala de estar dormindo na popa de chapéu em cima dos olhos, cutucou Budião com o dedo do pé, apontou o beiço para estibordo à proa e roncou baixo: “Remeiros a postos”. Levantando uma esteirazinha de espuma, um homem nadava à toda para a canoa, Dandão manobrou na direção dele. Na coroa do Forte, um soldado fez menção de disparar a clavina, desistiu, correu para dentro agitando os braços. Puxaram o homem para a canoa. — Bem-vindo a bordo, comandante Bento Gonçalves — disse Dandão. — Nesta bolsa está um fato novo e limpo, camisa e roupa de baixo. Na caixa, espelho e navalha. Queira Vossa Excelência se acomodar, que vamos chispar daqui a remo e vela. — Mas perfeitamente — respondeu o homem. — Passa-me lá um pano para que me enxugue e não tenhas cuidado comigo, vamos em frente. Durante todo o dia, o homem esteve escondido no Manguinho e à canoa atearam fogo logo à chegada, depois de retalhá-la a machado. Na madrugada seguinte, num batel pequeno, Júlio Dandão e Budião levaram o homem a um patacho inocentemente fundeado no porto da Bahia e de lá seguiram, um voluntário, outro fugido, para a guerra que era feita por esse homem na tal terra distante. Pouco mais sabia Zé Pinto, ou pouco mais quisera contar. O batel arribara vazio pelas abas da Fortaleza de São Lourenço, o sumiço dos dois foi até tido como fatalidade, talvez um peixe grande, talvez um vagalhão repentino. Teria Martina razão, Budião estava desaparecido para sempre? Era possível que estivesse, não se pode usar o coração para desmentir a razão. Agora talvez até se arrependesse de não ter acompanhado Martina à festa, não por nada, mas para se distrair mesmo — quem sabe estaria alguém lá que informasse alguma coisa de Budião? Pensou em mudar de roupa para ir, resolveu sair mesmo como estava, afinal não era festeira, ia somente apreciar, quem não gostasse que lhe desse roupa nova. Esticou o braço para fechar a taramela do portão, afofou um pouco a saia amassada, desfez e refez o nó do torso, saiu arrastando os tamancos em direção à praça. Mas, ao chegar perto das barracas e
dos grupos de foliões, ficou sem vontade de ter que falar com qualquer pessoa, preferiu contornar as árvores e ir sentar no cais pequeno, com os pés balançando em cima do mar. — Da-da-da — fez uma voz atrás dela. — Da-da-da-da, isto é jeito de festejar? Zé Pinto ficou de pé no cais, junto dela. Parecia ter bebido um pouco, os olhos estavam diferentes. — Ah, Seu Zé Pinto, não tenho disposição pra festa, não, prefiro ficar aqui tomando fresco. Ele sorriu, pôs a mão no ombro dela. — Deixa disso, menina, até eu, que sou velho, já vadiei que só tu vendo. Da-da-da, larga de bobagem, vai divertir a ideia. Ela baixou a cabeça, ficou mirando os pés e batendo os tamancos nos calcanhares, não respondeu nada. E já pensava que Zé Pinto havia ido embora, quando olhou para ele, e ele apontou para trás dela com o queixo. Que coisa esquisita — ela não já tinha estado num acontecimento igual a este, fazia muito tempo? Virou-se para onde ele apontava, viu um vulto contra a luz dos farolins, um homem desmedido, de botas de cano alto, chapelão enterrado testa abaixo, um pano pesado que descia em pontas ondulantes lhe cobrindo o tronco até a cintura, metais faiscando nas botas e pantalões. — Buenas — disse o vulto. — Estou chegando agora. Merinha ficou de pé sem saber como, apurou a vista, não enxergou nenhum dos traços do homem, cobertos pela sombra do chapéu. E aquela maneira de falar, palavras pronunciadas como se tivessem mais sons do que as que se usam aqui, ela nunca ouvira antes. Mas mesmo assim não se enganou, porque logo sentiu que aquele embuçado brotado da escuridão, ali postado como um tronco de árvore grande, era Budião, regressado da luta e vindo ter com ela.
Salvador da Bahia, 19 de dezembro de 1840.
Depois de muito contemplado, o alferes parece que se move, que de sua boca saem gritos horrorosos, que do buraco de seu olho arrancado espirra sangue, que o gazeio das gaivotas é um alarido de almas penadas ouriçando o vento, que os portugueses vão atirar de novo e tudo destruir. Maria da Fé, de vestido com renda de bico, cabelo espichado e retesado num pitote redondo, há mais de hora fincou os cotovelos no aparador para ficar de olho grudado na reprodução do quadro do alferes Brandão Galvão, que professora Jesuína todos os dias espanava, rezando em voz baixa uma Salve-Rainha. Não era idêntica ao original porque, ao canto superior direito, numa cártula de pontas caprichosamente convolutas, liam-se algumas das palavras da peroração, escrita em caligrafia chanceleresca muito armada — ... da voz que vos fala, gaivotas destas plagas invencíveis, nada podeis saber, mas a Voz do Povo Brasileiro, oh columbiformes prendas da Mãe Natura, havereis sempre de reconhecer, clara e argentina, a assombrar o Orbe! Dafé, porém, não prestava atenção às palavras, que até já sabia de cor, como, aliás, quase todo o discurso, de tanto ouvi-lo repetido pela professora, a qual, entre os muitos e
muitos heróis ostentados pela História do Brasil, tinha por esse seu grande conterrâneo estima especial. Dafé gostava era de fixar a vista naquela cena e logo começar a esfumar-se em pensamentos exóticos, sem ver ou ouvir qualquer outra coisa. Numa posição já rotineira — cotovelos no aparador, pernas trançadas pelos tornozelos —, plantava-se diante da estampa, que, apesar de ser um desenho em preto e branco, ganhava imediatamente cores, primeiro o sangue, depois o garboso fardamento do alferes com seus punhos agaloados, depois todo o quadro, depois os sons. Aquelas gaivotas de bicos abertos não estariam realmente atitando tão alto que se escutava na sala? E ela, que nunca tivera dor, não via o mundo girar como o alferes devia ter visto naquela hora, não sentia um aperto na cabeça, não ficava até meio tonta e enjoada? Dona Jesuína considerava todo aquele interesse um exagero. Afinal, muitos e bem mais valorosos heróis era necessário cultuar, o Brasil não devia sua Independência somente àquele bravo, mas a tantos outros que sua enumeração se tornava impossível. Pensasse Dafé que éramos um grande Império — sabia lá o que era um Império, podia avaliar a grandeza desse conceito? —, imaginasse a figura alta, nobre, imponente, portentosa mesmo, de Sua Majestade Imperial, Dão Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga, da grande Casa de Bragança, nos seus verdes quinze anos já tão sábio quanto o Menino Jesus entre os doutores e com ele até parecido, em seu alvo semblante de meiguice. Pensasse em quantos grandes homens houvera, havia e sempre haveria de haver, a saber de coisas elevadas que o povo jamais poderia saber, a decidir gravemente, no convívio dos santos e das musas, do amor à Pátria e de Deus. Não imaginasse Dafé que esses homens eram gente como elas. Eram homens muito fora do ordinário, homens que com uma palavra ou olhar moviam multidões, homens que não dormiam meses a fio, carregando em seus peitos destemidos as dores da Nação, cuja virtude se comparava à dos grandes mártires, cujas palavras eram sempre de bravura, desprendimento, valentia, abnegação, devoção e sobretudo amor ao Brasil. Recordasse os exemplos de coragem inquebrantável, de caráter incorrompível, abundantes em cada pequeno episódio de nossa História, assistindo sublime razão ao poeta que rendeu graças aos Céus por tão bem nos aquinhoar de homens admiráveis. Não se pode deixar de achar isto muito intrigante, disse com carinho a Dafé, enquanto emborcava a gravura para interromper o devaneio. Estava feliz porque ia voltar para o Baiacu, para a companhia do avô Leovigildo, não estava? Pois então? Pois nem parecia. Era agora uma mocinha, doze anos é já idade em que muitas estão casando, ensinara-lhe tudo o que sabia, estava direito ficar como uma criança sem juízo, horas diante de uma gravura, por mais inspiradora que fosse? Às vezes duvidava do futuro de Dafé. Devia ser o melhor possível, pois, com suas prendas e sua beleza, não seria difícil encontrar um rapaz de sua raça, ou até mais claro, para ir melhorando, e fazer um bom casamento, constituir família e assentar-se na vida. Mas a dúvida lhe vinha, por causa dessa e de outras esquisitices. Tratara Dafé como se trata uma filha. Se a castigara, fora para seu próprio bem, da mesma forma castigaria um filho. Suspirou, pensando silenciosamente em Amleto, orgulhou-se dele mais uma vez. Ela o educara como a Dafé, com exceção daquilo de que a mulher não precisava e para o homem era indispensável. Hoje ele era um homem ilustre, um homem de
quem a Bahia haveria ainda de falar muito, um homem capaz até do terrível sacrifício — sim, pois ela sabia como aquilo lhe era doloroso — de não reconhecer a própria mãe para não prejudicar as pesadas responsabilidades que tinha sobre os ombros. Irritou-se um pouco com Dafé, ao compará-la a Amleto. Bem verdade que era mulher e mulata, mas por que tinha de ter aquelas maluquices, por que, mesmo quando ouvia calada uma repreensão, era visível que não se curvava, e seu olhar, até quando de ternura, era sempre rebelde? Mesmo na hora de ser castigada com a palmatória ou ser posta de castigo ajoelhada em milho catado, coisas que nos outros meninos da escola incutiam terror, ela se mostrava indiferente, não chorando nem mesmo quando a aconselhavam a fazê-lo por esperteza, para abreviar a punição. Dona Jesuína se irritou mais, empurrou Dafé para fora da sala com alguma rudeza, lembrou-lhe que ainda não arrumara a canastra, continuava agindo como uma desmiolada. Se o avô Leovigildo chegasse e precisasse ir logo por causa da maré, não queria passar por essa vergonha, como se fosse uma preceptora desleixada. Deu um prazo a Dafé para cuidar de tudo, foi para a cozinha ver se já estavam aprontando a cocada de coco mole que ia presentear-lhe. Afinal, apesar de tudo, gostava dela, tinha-lhe criado afeto em todos estes anos em que ela permanecera em sua casa, a fim de receber a educação que Leovigildo exigia. Também arrumara uma pequena prendazinha, uma medalha e correntinha de Nossa Senhora do Amparo para ajudar a menina, agora que não mais ia contar com sua orientação sensata. Era contra a ida dela para o Baiacu, achava que lá não havia futuro, não compreendia por que alguém haveria de preferir morar nos ermos a morar numa cidade grande como a Bahia, ainda mais uma menina em idade de pensar em casamento. Cada vez que a ideia desse casamento lhe ocorria, ele se afigurava mais fácil. Podia ser até um senhor de responsabilidade, um homem equilibrado, um viúvo, por que não? Talvez não fosse muito, mas certamente ela tinha dote. O avô, segundo se comentava, era um negro esperto, bem calçado na vida, o que, aliás, se via pelo trato que dava à neta. Portanto, não passava de grossa bobagem essa volta para o Baiacu, mesmo que a mãe dela estivesse lá, como a menina às vezes alegava. Que mãe não seria essa, uma negra rude que engravidou de algum senhorzinho, talvez mulher de péssima índole e maus costumes, certamente muito tosca, a julgar pela profissão de mestre de pesca, que diziam ser a sua e que nunca, em parte alguma do mundo, foi profissão de mulher, muitíssimo menos mulher decente. Bem, não tinha nada com isso, não ia aborrecer-se por causa da filha dos outros. Sua obrigação, ela havia cumprido e cumprido muito bem, a menina sabia até mais do que devia, tinha-a visto várias vezes com livros em que não devia nem tocar e não adiantava castigá-la, porque ela tornava a outra. Possuía também bons modos, asseio, modéstia e vergonha, pois sempre insistira em inculcar essas virtudes em suas alunas, sem isso uma mulher não é nada no mundo. Por conseguinte, se não se contentava em passar no Baiacu apenas dois ou três meses por ano, como fizera todo este tempo, sua alma sua palma. Lavava as mãos, embora achasse aquilo uma pena, uma verdadeira pena, mas a grande verdade é que quem não tem juízo pede a Deus que o mate. Dafé circulou os olhos pelo quarto, bastante escuro apesar da janela aberta, deteve-se um tempinho na imagem de Nossa Senhora do Amparo, a cabeça levemente curvada para baixo, as mãos oferecendo ajuda e consolação, a lamparina fazendo seu manto parecer manchado de vermelho-ouro. Nunca aprendera a gostar daquele quarto em que dormira tantos anos e em que tanto se trancara, apesar da proibição, para ler até mesmo livros estranhos dos
quais não entendia nada. Mas também não lhe queria mal, era como um amigo meio incomodativo, mas a cuja companhia a gente se habitua. O canto molhado, quase uma frincha úmida, um vão de parede tão estreito que a mão só podia penetrá-lo de lado, continuava lá e continuava a meter-lhe medo, embora não mais como quando era pequeninha e pedia para alguém deixar nele uma vela acesa, com seus bichinhos ciscadores fazendo barulhos à noite e voando para a cama. Abriu as duas portas do guarda-roupa, começou a catar suas coisas. Não ia caber tudo na canastra azul que vô Leléu lhe dera, ia ter de fazer trouxas, porque não queria deixar nada. Tinha até separado algumas coisas que resolvera antes não levar, mas agora levaria tudo, nada dela ia ficar ali. Se fosse o caso, daria aqueles tarecos de presente lá no Baiacu mesmo, mas levaria tudo. Quando dona Jesuína voltou ao quarto, já a encontrou pronta para viajar. Vinha preparada para reclamar, chegou a se desconsertar ao ver todas as coisas em seu lugar, a canastra fechada, duas trouxas muito compostas, uma sacola, a cama de lençol esticado, o toucador sem uma mancha, Dafé sentada na ponta da cama com as costas espigadas. Compreendeu que ia sentir muita falta da menina, teve vontade de chorar, abraçou-a passandolhe a mão na cabeça. — Prometes-me que terás juízo? Hem? Prometes-me? E virás visitar-me de quando em vez? Olha que estou muito velha, não duro muito, tens que vir visitar-me sempre. Oh, minha querida Maria da Fé, vou sentir saudades tuas! — Eu também, eu venho, eu venho! Ainda estavam abraçadas quando a negra de copa Rogaciana, afogueada porque tinha tomado uma apalpadela comprida no traseiro, veio avisar que seu Leovigildo estava na sala esperando, e numa felicidade que só vendo! Dona Jesuína se amuou. Novamente não diria nada, mas não gostava que Leovigildo entrasse assim para a sala, abancando-se como se fosse uma pessoa de bem. Não era, era um negro que podia ter dinheiro e ser boa pessoa, mas era baixo, via-se perfeitamente naquela cara que de tão retinta chegava a parecer roxa. Bem, de agora em diante daria ordens severas para que as negras só o deixassem entrar pela cozinha e esperar lá mesmo. Tirou do seio uma caixinha miúda atada com barbante dourado, entregou-a a Dafé, pediu-lhe que a abrisse, pôs-lhe no pescoço a correntinha e a medalha, beijou-lhe as duas faces. Passou a chorar abertamente e levou um grande susto quando Leléu, muito do ousado, apareceu à porta do quarto todo sorridente, apalpou os fundilhos de Rogaciana outra vez e gritou: — Minha menina, eu hoje amanheci dando bom-dia ao sol!
Salvador da Bahia, 10 de março de 1853.
— Esvai-se a ebanácea náiade. A tez trigueira já se torna ebúrnea Do álgido beijo da letal serpente. Em seu túrgido seio não mais pulsa
O coração apesarado. Dandalê! Dandalê! — Haroldo ulula E em formidável pulo precipita-se Das garras d’águia ao solo em desespero. Oh! Dandalê! Dandalê! Mas eis que o pranto copioso e fundo Que do imo d’alma dele borbotava — Espetác’lo imortal de dor infrene! — O fluxo cessa de chofre, Ao surdo baque do caído herói, Morto, morto, morto ao pé da amada, Dos preconceitos vítimas os dois, Imolados ambos p’la liberdade! O suor lhe inundando o rosto, as mãos ainda crispadas pela força declamatória, o poeta Bonifácio Odulfo Nobre dos Reis Ferreira-Dutton curvou-se bruscamente para agradecer as palmas que estrondaram na Taverna do Mazombo, ao Jogo do Carneiro, quase abafando as últimas estrofes de seu poema trágico Haroldo e Dandalê. Sem conseguir sorrir como desejava, enxugou-se com um lenço de cores berrantes amarrotado, olhou em redor nervosamente, acenou para o grupo acotovelado no balcão, deu um piparote sem graça no chapéu à Velasquez de Antônio Onofre, ficou como quem não sabe para onde andar, enquanto o aplauso ainda persistia, morrendo aos poucos entre exclamações de entusiasmo. — Aquele verso da náiade, aquele fica! Como é? Esvaída a ebúrnea... Não, sim! Esvai-se a ebanácea náiade... É de truz, meu caro, olha que não oiço tal sonoridade numa redondilha maior, versinho que, cá para nós, poucos conseguiram salvar da vulgaridade, não oiço tal sonoridade faz uma data d’anos! Esvai-se a ebanácea náiade... Mas é mesmo de truz, meu caro, assim provas que os banqueiros ne sont pas seulement des salauds, mas também podem fazer filhos poetas da melhor estirpe! Esta fica, esta lá fica! — Aos copos! Mazombo, meu bom publicano, há mais seca aqui que em todos os desertos da Bessarábia! Não te dás conta de que acabaste de ouvir uma obra-prima de inaudita inspiração e a isto não resistimos nós, os invejosos, sem recorrer à linfa preciosa que teimas em esconder nas tuas barricas? — Mas, senhor doutor Antônio Onofre, reconheço que se trata de um belíssimo poema, de uma obra extraordinária que me vai aos bagos de tão forte e que o doutor Bonifácio Odulfo é mais poeta que toda a malta de poetas do reino, mas é que já se faz dia há muito, receio até mesmo que a polícia... — A polícia? Pois que venha a gendarmérie! Ao contrário da vulgar opinião, não são os poetas que ficam as pernas a batucar quando enfrentam a tirania, mas taverneiros ignavos como tu. Os poetas não fogem da luta, os poetas não temem nada, muito menos os esbirros do senhor intendente ou do senhor chefe da Polícia ou de quem lá seja! Anda lá, não te contentas em cobrar-nos o resgate de um mandarim pela zurrapa que nos serves e ainda queres instalar, nesta casa de liberdade, uma atmosfera sórdida de opressão? Que te causa desagrado na manhã, acaso és morcego?
— Je dis a cette nuit: “sois plus lente”; et l’aurore Va dissiper la nuit! — Bravos! O temps, suspends ton vol! et vous, heures propices, Suspendez votre cours! Laissez-nous savourer les rapides délices De plus beaux de nos jours!
— Touché! Então, Mazombo, sabes que trouxeram o Lamartine em defesa da pretensão do Antônio Onofre? Que mais queres? — Quer o Garret, isto é um luso irrecorrível. Anda lá, traz o vinho, antes que te ponhamos a ferros e te despachemos de volta à Beira, oh maroto! — Para mim, anisette! — Para mim um copo de cicuta! — Quero beber num crânio! Não há crânios nesta tasca? Como se podem embriagar os poetas sem boas e espaçosas caveiras? — À ebanácea ninfa! — Náiade! — À ebanácea náiade do vate Bonifácio, Que hoje brilha mais do que brilhou o Lácio! — Viva! Ao nosso Lord Byron! Ao nosso Merimée! Ao nosso Musset! Ao nosso Chateaubriand, verdadeiramente um Chateaubriand! A concepção exótica, o tom oriental, um não-sei-quê de Atala, um não sei quê do Último Abencerragem... E digo isto como grande elogio, não fora o próprio Chateaubriand discípulo ardoroso de Bernadin de Saint-Pierre, que por sua vez... — Ah, perdão, meu amigo Prosérpino, não fazes inteira justiça à grandeza da obra do Bonifácio. Eu, por mim, vejo muito, muitíssimo de novo, a par da pujança do vocabulário, da riqueza das imagens, do ritmo, eu diria, sinfônico. Ça va sans dire. Mas o que transfigura esta obra, o que a transmuta em verdadeiro marco, verdadeira revolução — revolução da ousadia, do engenho, do gênio —, é o próprio tema, o próprio tema! Por acaso escapa aos senhores, embora tão evidente quanto a fachada de um teatro, a revolução contida no tema? Haroldo e Dandalê... O conto de amor proibido entre um branco descendente de godos portugueses e uma negra brasileira, um ser selvagem e primitivo, “capitosa atra fruta das frondes tropicais”, como diz o próprio poeta. Alcançais a magnitude da ousadia? Avaliais, quando esta obra sem par for publicada, o ímpeto da reação dos moralistas, dos conservadores e dos fariseus dos quais, infelizmente, é constituída a maior parte de nossa sociedade? Os abolicionistas e os — por que não falar claro — republicanos... — Senhores, pela bênção do Santíssimo Sacramento, estes assuntos! — Falta-te grandeza, Mazombo, tens os ideais de um caracol. Podias entrar para a História como senhor deste salão, deste que poderia ser um cenáculo imortal. — Sim, mas às galés ou à forca não se levam os livros de História. Os senhores, que são todos bem-postos na vida, não iriam à forca nem à prisão, tomavam lá uns pitos, mandavam-nos a passar umas feriazitas em qualquer praia distante e depois iam perdoados.
Quanto a mim... — Está bem, mon Tartuffe. Vê lá outra botija, faze o que sabes. Mas falava eu de Haroldo e Dandalê. Por sinal, que lindo nome arrumaste para a tua heroína, meu Odulfo, onde o desenterraste? Tens lá mais manhas do que um gato matreiro, foste a que fontes? — Não fui a fontes, como tu dizes. Este apelido é um produto da fantasia, busquei uma palavra sonora, que evocasse os sons africanos, o lundu, o banzo, a indolência sensual própria da raça negra... — E foste felicíssimo! Dandalê... Agora responde-me, Prosérpino, qual de teus portugueses e franceses seria capaz de tal invenção? Aliás, quando é a queima dos livros portugueses? Temos que fazê-la junto a um lago, alguém há de conseguir um lago! — Há uma lagoa junto à chácara do meu tio, no Rio Vermelho. — Pois então será lá. Uma fogueira dos livros dessas azêmolas sinistras, que ainda se pretendem nossos mentores. Nós, uma geração imersa no gênio de Rousseau e Victor Hugo, entre a Morte e a Grandeza, a ler coisitas frouxelengas e pieguices lamuriosas? — Mas o Herculano, não. O Herculano... — O Herculano é uma besta pomposa e sabes muito bem disto! — Retira o que disseste, retira! — Mais fácil seria que deixasse rapar o meu bigode e sabes que já matei dois que se atreveram a tentar. — Mataste dois? Onde? — Isto não te interessa. Na Europa, não conheces a estudantada europeia, os duelos são frequentíssimos. — Mentes! — Não, tu mentes! Tu mentes até quando falas nesse Herculano, um perigoso celerado que escavoca palavrões arqueológicos para contar lorotas sobre Portugal, lorotas tão medonhas que até mesmo os mais estúpidos portugueses — e olha que não são raros, hem, antes pelo contrário... — Retira o que disseste, retira! — Não retiro! E também vou atirar os bestialógicos que ele teve a desfaçatez de fazer imprimir à mesma fogueira em que lançarei as querimônias dos senhores doutores Xavier de Novais, Soares dos Passos, Bulhão Pato e não sei mais quem entre todas essas alimárias babosas que tanto te tocam a sensibilidade. Ao fogo! À meia-noite, junto à lagoa da chácara do tio do Eusébio, o Lago Abissal, de onde se ouve a voz profunda das Eras... E beberemos em crânios também, Eusébio! Amanhã iremos a um campo santo, violaremos as campas... Melhor talvez uma igreja? Entramos numa igreja à noite... — Senhores, peço-vos mais que encarecidamente, estes assuntos, estes assuntos! — Ah, junto ao cadáver embalsamado Daquela que foi tão querida em vida, Deito meu corpo de amor sequioso, Afago e beijo seu rosto gelado... — Retira o que disseste do Herculano, retira! Todos veem como ele me provoca, quero que vejam bem, antes que lhe vá com a mão às fuças! — Calma, senhores, a noite é da poesia!
— Retira! Herculano não é uma besta! — Decide então o poeta da noite! O poeta Bonifácio Odulfo decide se Herculano é ou não é uma besta! Atenção para o veredicto! Mas Bonifácio não sabia o que dizer e então, assim que pronunciou as primeiras sílabas, contraiu-se num violento acesso de tosse que o obrigou a sentar-se, os cabelos em desalinho, o rosto convulso, a respiração estertorada. — Cânfora! — Afrouxem-lhe o colarinho! — Ponham-no de pé! Cheirada a cânfora e esquecido Herculano, Bonifácio melhorou aos poucos, passando a mão pela cabeleira com um riso estoico e o olhar distante. — São os pulmões, este par de canalhas. Mas isto passa. Isto... Novo acesso de tosse o golpeou. Amparado por Antônio Onofre e Mazombo, pareceu que ia desfalecer, mas conseguiu recuperar o equilíbrio. Insistiu que estava bem, pediu que continuassem a beber e conversar como antes, mas Antônio Onofre aceitou os argumentos ansiosos de Mazombo e o convenceu a voltar para casa. Já seriam umas oito horas, o sol devia estar quente, era até bom que pegassem um calorzinho arejado, depois de toda a noite no ambiente úmido e abafado da taverna. Emergiram à rua de braços dados. O sol estava encoberto por nuvens carregadas e, em vez de calor arejado, encontraram um mormaço sufocante, que trouxe uma exclamação de horror a Antônio Onofre. — Reconheçamos que se trata de uma cidade inabitável — disse. — O ar está mais agradável dentro da taverna. Bonifácio não respondeu, nem mesmo deu sinal de ter ouvido alguma coisa. Antônio Onofre parou, puxou-o pela manga. — Que tens, não te sentes melhor? — Ah, estou bem, muitíssimo bem, nem me lembrava mais de ter tossido. Que estopada, hem, estávamos a nos divertir tão à larga e de repente aquele acesso. — É por isso que estás tão soturno? Pensas na doença? — Não estou soturno, nem penso na doença. Encaro-a como uma maldição, uma fatalidade. Não serei o primeiro, não é, até parece mesmo a sina dos poetas, como diz a minha mãe. Não, nem penso nela, nem estou assim soturno como tu dizes. — Estás, sim. — Parou outra vez, recuou dois passos e falou de braços cruzados. — Então temos coisa de amor? Ah, certamente que temos! On ne badine pas avec l’amour! Que foi, esticou-te outra vez um daqueles olhares lânguidos a Dona X? — Já te disse que não troces com isto, queres que os capangas do marido me matem a bengaladas? — Mas não falei em nomes, falei X, acho que dá um toque de mistério e aventura à coisa. — Ah, nem me fales, não tenho podido vê-la. Receio que o velho ogre a trancafiou outra vez naquele sítio horrendo da Barra. De qualquer forma, não há teatro, eu só podia vê-la no teatro.
— Mas um dia haverá teatro, não deves desanimar. — Mas não estou desanimado. Tampouco pensava nela. — Mas então em que raio de coisa pensas, porque dizes que não estás preocupado mas estás, conheço-te muito bem, não é do teu feitio esta cara comprida. Dá-te problemas lá o velho? — O velho sempre dá problemas. Coitado, é um homem culto, mas as decepções e o trabalho o levaram a desconfiar dos literatos e intelectuais. Agora, à frente da Casa Bancária e com mais todos os outros negócios, transações infindáveis que me deixam tonto só de vê-las mencionadas, acho que não lhe sobra tempo para arreliar-me como fazia. Acostumou-se à ideia de que sou como sou e de que jamais vou transformar-me num plutocrata como ele. Mas sei que deve sofrer com isso, imagina que, depois de morrer, a família se arruinará de pronto, no que, aliás, pode estar até bem certo. Com os filhos não conta. Clemente André já é praticamente um monsenhor, vive em colégios, seminários e conventos, às vezes nem parece que compreende qualquer coisa que não seus cantos gregorianos e as confissões de suas beatas. Carlotinha é mulher e casada com aquele palerma do Vasco Miguel, que mesmo assim foi premiado pelo velho com alguns cargos nas firmas dele. Quem não tem cão caça com gato, como se diz, e ele vai tendo de ajeitar-se com o parvoeirão que arranjou para genro. — Mas não arranjou, que culpa ele tem, a Carlota... — A Carlota nem fala, quanto mais pensar e escolher. Gosta de livros, deve viver fantasias tolas, está muito satisfeita com suas lições de música e com meus dois sobrinhos catarrentos que lhe vivem às saias. Embora merecesse melhor marido, coitada. Melhor dizendo, outro marido qualquer, pois não poderia deixar de ser melhor do que o asno do Vasco Miguel. Meu pai pelo menos salvou algumas vidas ao afastá-lo da Medicina. Se bem que, na epidemia de 50, em que perdeu a mãe e a irmã, Felicidade Maria, quem as tratou foi ele. Tenho certeza de que, solto a praticar as artes médicas, ele seria muito melhor ceifador do que quinze epidemias da febre amarela e da peste juntas. — Estás uma cobra hoje, hem? Ainda bem que sou teu amigo, que linguazinha! — Não é isso, é que meu pai, apesar daquela aparência carrancuda, tem o coração muito mole, comete asneiras por isso. Apiedou-se da baronesa depois que o barão morreu, sempre lhe foi muito devotado, serviu a um barão que de negócios parece que entendia tanto quanto de sânscrito arcaico, com tanta dedicação que quase lhe custa a saúde, talvez a vida. Nunca lhe deram nada em troca, como sói acontecer nestes casos, mas, mesmo assim, ele achava que devia sacrificar-se pela baronesa. Fez tudo, arranjou-lhe os negócios arruinados que lhe deixara o tonto do barão, que, depois de combater como um doido na guerra da Independência há de ter ficado de miolo mole e sem conhecer outra atividade que não a de herói, assistiu-a em tudo e tudo, até o enterro lhe pagou. Até o enxoval da outra menina — como se chama ela? — da Florbela, até o enxoval para o ingresso dela no convento ele deu. E, não contente com tudo isso, ainda garantiu a farta sobrevivência daquela zebra do Dr. Vasco, dando-lhe a filha, minha irmã, em casamento. Deve ter sido pedido da baronesa. Ele, cuja mãe lhe faltou cedo, transformou em sua nova mãe, fazia tudo o que ela pedia. O resultado é que leva mais esta carga nos ombros, que de negócios não há de perceber coisa alguma o Vasco, como não percebe nada de nada, acho que tem um vocabulário de oitenta palavras, se muito.
— Mas tens outro irmão, não tens? Um irmão menor? — O Tico Macário? É mais fácil conseguir que o padre Clemente André arregace a batina e saia a bailar nas festas de Reis do que meter senso na cabeça dele. Por sinal, faz catorze anos hoje, mas parece um macaco de dezoito. Mal sabe as primeiras letras, vive a chafurdar-se nas negras da casa e das fazendas, não se duvide que eu já tenha uns dois sobrinhos aí pelas senzalas. Não faz tempo, esmurrou um professor de Latim, o velho Queiroz. E ainda jogou-lhe tinta de escrever pelos livros e papéis, um verdadeiro horror. Meu pai o castiga, mas de pouco adianta, mesmo porque a mãe tem nele seu ai-jesus, sabes como são essas coisas de caçula, ela sempre acha que ele está sendo injustiçado ou mal compreendido. Já fugiu de casa duas vezes e ela invariavelmente promete-lhe mundos e fundos para que não torne a fugir. Anda a fumar, a beber e a jogar os bilhares, é uma boa bisca esse meu irmão. Como vês, meu velho tem lá seus problemas, mas que se há de fazer, todos temos problemas. — Sim, mas isso com certeza também não te deixa tranquilo. — Meu bom amigo Toninho, vejo que insistes em achar aquilo que julgas causar-me tristeza. Sou-te franco, pois te tenho como irmão e quisera em casa poder contar com a fraternidade, a compreensão, a intimidade e o despojamento de nossa amizade. — Obrigado, sinto-me assim também, obrigado. — Não tens que agradecer, sabes que é a verdade, sobre estas coisas não se fala. — Le sort fait les parents, le choix fait les amis. — Pois então. Pois então te digo que nada me afeta senão o que nos afeta a nós todos, o mal do mundo. Que é o poeta, o artista, o visionário, senão aquele que sente mais que os outros? O que mais me causa pasmo é a insensibilidade. Às vezes, acho estou num pesadelo, ao perceber quão insensível é o meu semelhante, como não grita, não chora, não morre diante de um mundo de injustiça e iniquidade. Vês o nosso povo? Que país seria mais rico que o nosso, mais feliz, mais próspero, mais moderno? Nenhum! Entretanto, o que se vê é tanta miséria, tanta fome, tanto atraso, tanta tragédia humana — e a tudo encaram como se tudo fosse da ordem natural das coisas. Podemos ser os titãs do Universo, os titãs! — E seremos! A força da raça, a força do espírito, a força da coragem! — Mas às vezes me falta fé. Dir-se-ia que alterno entre uma certa Weltschmerz, um desencanto, um desalento... — Não achas isto assim um sentimento passé, uma coisa antiga, wertheriana? Os tempos são outros, os horizontes do Novo Mundo... — Isto que tu chamas de “coisa wertheriana” não tem nada a ver com o tempo, nem o lugar. Como o próprio Werther diz, a gente daqui é como a gente de toda parte. Por que não reconhecer o ennui, a bile negra da melancolia? Por que não reconhecer que, para o poeta, o cálice é de fel amargo, a carga é dura, a morte é um alvorecer? É a verdade, meu querido amigo Toninho: alterno entre esse spleen, tão arraigado e atroz, e o senso do heroísmo da condução dos povos, do arrebatamento, da afirmação da Raça e da Vitalidade Universal, do Espírito do Povo e da Grandeza — por que não reconhecer tudo isso? Que sou eu, onde estou, que faço aqui? Sabes o peso que isso representa para uma alma sensível? Às vezes invejo a força rude do povo, às vezes brado aos Céus por não haver nascido na pobreza ou mesmo no cativeiro, às vezes — pasme, meu caro, pasme! — aspiro ao martírio, volto-me inteiro para a
ideia da santidade como vocação! — Emocionas-me! Não, verdade, emocionas-me, emocionas-me ainda mais poderosamente que teus versos, pois não estaremos, agora mesmo, a viver a História? Não se falará e escreverá um dia sobre como aqui estivemos, a subir ignorados o aclive obscuro da Ladeira de São Bento, a sofrer por aquilo que nos levará a erguer as vozes mais alto do que qualquer poder jamais poderá erguer? Imagina o futuro: “Aqui passaram tantas vezes, estentorando os sonhos magníficos que lhes traziam febre ao coração, os poetas Bonifácio Odulfo e Antônio Onofre e, mal sabiam os passantes distraídos, ali fermentava, entre o bardo de Haroldo e Dandalê e o vate de Novo Mundo, Novo Futuro, a Revolução Universal!” — Ah, sim! Às vezes penso mesmo nisto, tenho a certeza de que será assim. Por que tenho essa certeza? Não sei, mas é algo que, dentro de mim, não admite dúvida, eu sei, eu sei! Não sentes às vezes um turbilhonamento na alma, uma voragem de ideias e sentimentos desordenados, muitas vezes contraditórios, não sentes uma ânsia, uma sede, uma impaciência, um desarvoramento? — Almas gêmeas é o que somos! A mim também nunca falta essa certeza, que também me vem em meio à mesma agitadíssima confusão da mente e das emoções. Quero mostrar-te algo que escrevi, posto que ainda não passa de um esboço, em que tentei como que pintar um panorama verbal desses sentimentos. Vens ao Mazombo hoje? — Meu caro, se não vamos ao Mazombo, não morremos de mazombice? — Tens razão, hoje estás com a veia. Bem, acho que embico por aqui, já está praticamente em casa e daqui corto para São Raimundo num pulo. Espero que a velhota tenha saído para as compras da feira e ainda não tenha voltado. Vence o segundo mês hoje e continuo sem o cum-quibus necessário para saldar esse compromisso. O mais irônico é que meu pai acaba de montar-se numa fortuna em diamantes, uma patacaria que não tem mais tamanho, mas demoram as remessas, vem tudo em lombo de mula lá de Lençóis, um fim de mundo. Bem, mas se tudo fosse isso. Sem a velha por perto, entro com tranquilidade, trancafio-me no quarto, depois penso no que fazer. Au révoir, mon p’tit. Haroldo e Dandalê já está escrito a fogo no Panteão dos Imortais! — Um momento, Toninho, não queres lá alguma chelpa para te ajudar, enquanto o teu dinheiro não vem? — Ah, deixa estar. E comer, sempre posso comer nos fundos da Igreja de São Pedro, com meu tio padre. O almoço vale bem uma missa, n’est-ce pas? — Deixa tu de fricotes. Anda cá, toma cá. — Bem, se prometes que não farás como das outras vezes... Se me asseguras que é um empréstimo mesmo, que consentirás que o pague, neste caso... — Está bem, está bem. Não estarás em breve a nadar num mar de diamantes? Pagasme quando assumires tua condição de potentado. — Salvas-me do opróbrio mais uma vez, muito obrigado. Aquela velha da pensão não tem nenhum sentido de conveniência, queixa-se de mim em altos brados para que toda a vizinhança escute. E salvas-me também da missa! Adeus, vemo-nos à noite no Mazombo. — Adeus, Toninho, cuida-te, hem? Ficou parado alguns instantes, olhando o amigo atravessar a rua e enveredar pelo beco para São Raimundo. Agora lembrava-se de que estava um pouco bêbado, talvez bastante
bêbado, mas, em vez de aborrecer-se, alegrou-se. Avaliou a rua sorrindo, pensou em como não tinha de preocupar-se com um futuro que já estava escrito, em como a glória lhe chegaria naturalmente, em como, por sua voz, aquele povo que tão bem compreendia e interpretava atingiria a plenitude da consciência da Raça. Viu-se na Corte, viu-se nos salões de Paris, viuse voltando triunfalmente à Bahia, carregado nos braços do povo como seu poeta, seu poeta máximo. Encheu-se de ternura por tudo em redor, cumprimentou com efusão um pardo que passava sobraçando pilhas de papel, recebeu de volta uma mesura pressurosa ao senhor doutor. Andou devagar para casa, cheio de amor pelo povo e pela terra, escreveu mentalmente: “Telúrica força pujante da bravia Pindorama, oh vós que nos campos mourejam, que nas matas desbravam o ignoto...” Pensou vagamente em anotar as palavras, mas desistiu porque tinha certeza de que elas voltariam, ele não era como os outros, era com certeza um gênio. E também estava com sono — como disse à mãe, assim que ela o recebeu com a recriminação chorosa de sempre, antes de se trancar no quarto para dormir, fechando bem as janelas para não se arriscar a pegar alguma doença do pulmão.
— Como é que fica a pessoa que precisa desesperadamente de uma coisa e, quando essa coisa chega, não é nada daquilo que a pessoa queria? Fica morta, isto é o que ela fica! Então uma firma como a Ambrósio Nunes & Irmãos, que se jacta de ser tradicionalíssima e servir aos mais ilustres prelados e homens públicos, apresenta esta garnacha mal amanhada, esta obra de albardeiro, e ousa chamá-la de batina? Tal cinismo envergonharia o pior roupa-velheiro da Baixa! Olhem, olhem este enfranque, olhem isto, dá vontade de rasgar! Eu disse muito claramente que queria um enfranque armado, assim deste jeito parece até que eu sou um velho gordo, com a cintura continuada pelos quadris. Ai! E o que é isto? Isto aqui do lado, o que é isto? Isto é uma maneira! Onde já se viu batina com maneira, por Maria Santíssima? Eu cheguei a pensar que era um bolso, mas não, é um buraco horrendo, que absurdo, os senhores estão loucos! É por isso que sempre mandei fazer minhas batinas em Roma e, quando, contra meus princípios, resolvo prestigiar uma firma da terra, o que me aparece é esta... Esta coisa abominável! Não gosto de nada, não gosto dos aviamentos, não foi esta a fazenda que eu pedi, a saia está pouco averdugada, as contramangas são horripilantes, a capa era para ser abrochada e não presa por esses botões de defunto, coisa mais medonha, não gosto de nada, nada, nada! E que são essas tripinhas, essas minhoquinhas, são sutaches? Que feio, joga isto fora, joga isto fora, Domiciano, não posso nem olhar! Ouve, meu caro senhor, não vivo de espórtulas como o resto da vossa freguesia, tenho dinheiro para vestir-me decentemente, não será por ser padre que sairei por aí andrajoso, metido num saco de estopa preto! Queira o senhor providenciar imediatamente todas as alterações! Aliás, alterações não, exijo uma batina como a que encomendei! E exatamente como a encomendei! Os senhores têm três dias, dois dias e meio, para completar o serviço e ai dos senhores se domingo eu não estiver com a minha batina! Agora chega, chega, há limite para a paciência até de um santo! Os senhores podem retirar-se. Domiciano, vê-me um copo d’água com um poucochito de açúcar. Mas vê lá, hem, não me tragas a tua costumeira garapa, que a enfiarei pelas tuas orelhas adentro! Padre Clemente André caiu exausto no sofá, as mãos na testa dolorida. Esticou a perna e abriu a porta do guarda-roupa com a ponta da bota. Olhou com desalento a extensa fileira de
sotainas, capas, paramentos e chapéus — tudo usado, tudo cansado, tudo sem brilho, nada à altura do domingo que tanto antecipava. Levantou-se, abriu a outra porta, dedilhou as roupas penduradas, sentiu um aperto na garganta, sentou-se novamente, desta vez para chorar com as mãos cobrindo o rosto. — Meu filho, que foi? — perguntou Teolina à porta. — Ah, minha mãe, minha mãe! — soluçou Clemente André sem descobrir o rosto. — Minha mãezinha, será que vou ter com o arcebispo vestido numa batina velha? Teolina se afligiu, correu para ele, suspendeu-lhe a cabeça, mirou-o nos olhos. — Oh, meu filho, não fiques assim, não há razão para tanto. Não encomendaste uma batina nova, de seda, que devia ficar pronta hoje? — Ah, não viu a senhora que tive de pôr para fora os dois magarefes da tal Ambrósio Nunes & Irmãos, que tiveram o desplante de trazer-me cá um saco — um saco, mãezinha! — para tentar impingir-mo como batina? Disse-lhes que providenciassem uma outra, como o feitio que eu havia pedido, mas não creio que a tragam a tempo, preciso dela para este domingo! — Não te vexes, meu filho, eles têm muita experiência e, de mais a mais, devem bastante dinheiro à Casa Bancária do teu pai, farão tudo para agradar-te. — Ah, minha mãezinha, será mesmo? — Posso garantir-te. Vamos, não fica assim. Hoje é o dia de anos do teu irmão caçula e teu pai, em lugar de festejar, está outra vez sobre grelhas com ele, hoje temos função. Teu outro irmão varou a noite pelas tabernas como sempre e agora está dormindo lá em cima, o que também deixa teu pai muito zangado. Imagina, dormindo às três horas da tarde, tem lá cabimento isto? E tu, que passas tão pouco tempo conosco, pelo menos podias viver com alegria estes momentos raros. — A senhora tem razão, minha doce mãezinha. Mas preocupa-me tanto a batina... A senhora sabe como desde miúdo tenho admiração por Sua Eminência, um homem acima de todos os outros, pela firmeza, pela coragem, pelo porte altivo, pela conduta de verdadeiro príncipe da Igreja. Lembro-me ainda da minha crisma, vendo-o orar de seu trono, magnífico como um rei, lembro-me como estremeci de felicidade ao receber a álapa de sua mão forte e severa... — Álapa? Fala mais claro com tua mãe, filho, lembra que minhas letras são poucas. Recebeste dele algo especial? — Sim, de certa maneira. Não lembras que, na crisma, recebe-se um tapinha no rosto? Pois não se diz tapa, diz-se álapa. Bateu-me na face, senti um estremeção, uma emoção inaudita, senti encher-me o corpo todo de admiração por aquele homem, de um sentimento poderoso e sublime que não posso descrever, faltam-me palavras. E, outras vezes, como me vi tomado quase de uma possessão divina, angelical, ao contemplá-lo imponente nas procissões, a majestade de seu rosto nobre ensombreada pelo baldaquino, realçando-lhe os traços augustos. Ah, mãezinha, somente o pensamento de ser pessoalmente apresentado a ele me dá calafrios, saberei dizer algo após beijar-lhe a mão, sair-me-ei bem? — Mas naturalmente que te sairás, meu filho. Não és nenhum parvo, és tido em alta conta por todos os teus superiores, foste dos melhores alunos do Seminário, és professor já de nomeada, destaca-te por teu trabalho nas Obras Pias... Não crês que o arcebispo já ouviu falar
muito de ti e já te tem em boa conta antes de conhecê-lo? — A senhora crê, crê mesmo? — Tenho certeza! — Mas, mesmo assim, não julga a senhora ser indispensável apresentar-me bem? Independente de ser padre, sou homem bem-nascido, não posso ser comparado a um padreco desses que vêm do Interior, não quero ser confundido. — Não serás, meu filho. Sempre te disse que teu destino é elevado, sempre soube disto, não tens que ter preocupação. Deixa-te disso. Anda, vai comer alguma coisa, o jantar hoje deve sair tarde, teu pai ainda vai receber algumas visitas no gabinete, coisas de negócios. Dormiste bem? Não te vejo desde ontem, praticamente. E teu amigo, dormiu bem? — Uma pergunta de cada vez, mãezinha. Se a senhora por acaso pudesse ser padre, ia ser uma confessora terrível. Não, não quero merendar nada, ia beber um copo de água com açúcar que pedi ao Domiciano para trazer e que, por sinal, está demorando uma eternidade. E Domiciano não é o que se pode chamar de meu amigo. É apenas um rapaz do orfanato das Obras Pias que estou acompanhando pessoalmente, é um caso difícil, muito rebelde, muito cabeçudo, muito rude. — Às vezes te admiro mais ainda do que de costume, meu filho. Não te contentas em servires de pai, professor, orientador e amigo para essas criaturas intratáveis e ainda dedicas o pouco tempo que sobra para ti a assistir os mais necessitados de amparo. — Ah, mãezinha, nem me fale no trabalho que ele me dá. Nem dormir sozinho posso, pois, se deixá-lo a sós, não sei o que poderá fazer, precisa de vigilância constante. Mas agradeço a Deus pela oportunidade de servir ao semelhante, nisto se encontra a essência do sacerdócio. Falar nele, onde andará agora? Já devia estar aqui há muito. — Não te preocupes, vou voltar lá para dentro, encontro-o e mando-o aqui. É possível que tenha necessitado fazer qualquer outra coisa. Mas antes queria pedir-te um favor. — Quantos a senhora queira, mãezinha. — Não podias conversar com teu mano? — Qual dos dois? — O Patrício Macário. O Bonifácio já escolheu o destino dele, não admite nem conversar, às vezes passa dias sem dirigir mais que duas ou três palavras à família. — Aquele selvagenzinho? Mas conversar o quê com ele? Se o pai nada consegue... — Mas tu és um homem da Igreja e um homem de Igreja habituado a domar rapazes renitentes, como esse teu Domiciano. — Duvido muito que pudesse fazer com o Tico Macário o mesmo que faço com o Domiciano. — Pois decerto que não, é teu irmão, não é um rapaz à toa. Mas podias talvez incutirlhe algumas ideias, mostrar-lhe como está indo errado. Tenho medo que um dia destes teu pai o ponha para fora de casa, tal a raiva que lhe causa. — Talvez não fosse má ideia pô-lo para fora de casa. Quiçá aprenderia a dar valor ao que lhe tem vindo de mão beijada. — Deus nos livre, nem fales nisso! Como podes querer tal coisa para teu irmão pequeno? Não se pode esquecer que ele é muito menino ainda, falta-lhe juízo, há que ter-se
paciência com ele. — Está bem, mãezinha, vou ver o que posso fazer. Mas não prometo nada, hem? Onde está ele? — Teu pai mandou chamá-lo ao gabinete, é isto que temo, pois estava muito assoberbado ao chegar da rua, nem quis olhar as plantas como sempre faz à tarde, por mais aborrecido que se encontre. — Que fez o Tico desta vez? — Nada. É que é seu dia de anos e desde segunda-feira que o pai fala no desgosto de ter um filho de catorze anos que não dá para nada e mal sabe a tabuada e o á-bê-cê. Acho que hoje, por ser finalmente o 10 de março, ele veio disposto a fazer gato e sapato do pobrezinho. Temo pelo pior, meu filho, temo pelo pior. Acho que Patrício Macário saiu a teu avô, meu pai, que dizem que era assim encasquetado, pior ficando quanto mais o castigassem. — Ai Deus, ai Deus, ai Deus, isto tudo me dá um grande cansaço! Por que não podemos viver em paz como todas as outras famílias, por que há sempre de estar surgindo uma complicação nova? Não cansa, não cansa? — Mas vais falar com ele, não vais? Prometeste, não prometeste? — Prometi, prometi. Vou falar, esteja a senhora descansada, embora não acredite que adiante coisa alguma. Assim que chegar aqui o Domiciano, pois tenho que dar-lhe algumas tarefas. — Então pronto, depois nos falamos. Não te demoras, pois não? Tenho de ir lá dar ordens às negras, procuro o Domiciano para ti. Ah! Ei-lo que chega! Já te aguardavam, meu rapaz! Domiciano não falou nada, parou à entrada do quarto com um copo na mão, os cabelos louros um pouco assanhados, a camisa de dentro com um botão aberto no peito. Teolina deulhe um olhar de relance, esperou que se afastasse para que ela pudesse passar e saiu corredor abaixo. Clemente André tomou o copo, passou a mão pelos cabelos do rapaz, abotoou-lhe a camisa, descansou o antebraço em seu ombro. — Onde estiveste, por que tanto demoraste? — disse com doçura. — As negras estiveram a troçar comigo, demoraram a trazer o copo. — As negras estiveram a troçar contigo? É de bonito que és, não faz mal. Anda, não te amofines. Abraçou-o ternamente, puxou-lhe a cabeça para junto da sua, ficou muito tempo alisando-lhe as costas e a nuca.
10
São João do Manguinho, 30 de outubro de 1846.
Na primeira noite, como era festa de São Gonçalinho, Budião pôde ficar com Merinha até altas horas. Já de madrugada, ela se esgueirou de volta à casa pelo portão dos fundos, não mais para dormir, mas para ir tratando de ralar o milho e o coco do cuscuz e acender o fogão. Ele se enfiou dentro de um saveiro apoitado quase em seco e dormiu até o sol começar a lhe esquentar demais os pés por baixo do poncho-pala que lhe serviu de cobertor. Não sabia de quem era o saveiro, ficou com vergonha de meter a mão no estenderete para tirar uns quatro peixes secos, pegou a mochila, socou dentro dela o chiripá e o poncho e saltou para a praia do lado da proa, que estava encalhada na vaza da maré. Mas tinha muita fome e resolveu voltar. Apanhou um espetinho inteiro, encheu a mão e a boca de farinha, guardou metade de uma rapadura no bolso e, com as bochechas atufadas, pulou para a areia. Como tinha as mãos ocupadas e não pôde segurar-se bem para descer, cambaleou ao tocar no chão, quase cai diante de um par de perneiras esfrangalhadas, encimadas por calças cinzentas também em mau estado. Levantou a cabeça, deu com o rosto de um mulato de meia-idade, de chapéu de palha, barba de sete dias, capa amarrada ao pescoço por uma corda encardida, cheiro de garapa de limão azedada e cachaça. Budião mastigou o peixe e a farinha tão rápido quanto possível porque queria falar, talvez aquele homem fosse o mestre do saveiro, embora não parecesse. Mas a cara lhe era familiar e quase não conseguiu prestar atenção no que ia dizer, tentando lembrar-se de quem se tratava. — Ontem foi a festa de São Gonçalinho — começou a explicar — e então, vosmecê sabe, cada um vai se arranchando como pode pra dormir. Mas deixei tudo do jeito que encontrei e esse peixe eu... — Tu é negro de quem? — perguntou o homem rudemente, e Budião, ao ouvir aquela voz autoritária e estridente, reconheceu Almério, o feitor da Armação do Bom Jesus. Mas preferiu não dizer nada, até esperou que ele tampouco o reconhecesse, vestido naquelas roupas da Província e com o bigode recurvo que deixara crescer fazia mais de oito anos. Era esquisito que estivesse aqui, ainda mais coberto por molambos imundos, como se fosse um mendigo. — Não sou negro de ninguém, camarada — disse Budião. — É vosmecê o mestre do saveiro? — Negro ousado, onde já se viu negro fazendo perguntas! Cadê teu bilhete, anda, mostra teu bilhete! — Mostrar meu bilhete para quê? Quem é tu? — Todo branco tem por direito exigir o bilhete a qualquer negro que encontre vagabundando. — Não tou vendo nenhum branco aqui. — Escuta cá, pedaço de fumo, não te metas a besta ou te retalho todo neste instante.
Com um pulo para trás, Almério sacou da perneira uma navalha afoiçada que abriu no mesmo movimento, cortando o ar à frente de Budião. Abriu as pernas, levantou o queixo, cuspiu pelo canto da boca, esperou a reação com um olhar insolente. Budião pôs a mão por dentro da camisa, tirou seus papéis, estendeu-os a ele, que os pegou com a mão esquerda. Para não baixar a mão que brandia a navalha, ia abrir os papéis com a ajuda da boca, mas Budião se adiantou, desdobrou-os e os entregou de novo. — Isto não é bilhete de nada — disse ele. — Nunca vi bilhete como este, isto aqui não é nada. — Tá de cabeça pra baixo, tchê. — Estou vendo bem que está de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima ou de cabeça pra baixo é a mesma coisa, isto não é nada. — Isto prova que fui anistiado e alforriado, como ex-combatente da República Juliana, da República de Piratini, farroupilha. — Isso tudo é mentira, nada disso existe nem nunca existiu. Isto é papel de limpar o rabo. Vou lascar logo tudo. Antes que se mexesse, uma das mãos de Budião lhe apertou o pulso com tal força que ele deixou a navalha cair e a outra o segurou pelo gasnete. — Escuta bem, Almério, tu não vai rasgar nada, tu percebeu? Tu não vai rasgar nada nem fazer nada, tu percebeu? Responde, tu percebeu? — Eu não te conheço? Não adianta tu disfarçar com essa fala diferente, eu te conheço, tu é negro fugido aqui do Engenho, tu foi negro da Armação do Bom Jesus! Tu não pode fazer nada comigo, tu vai ao tronco ou à forca, negro fujão! — Quer ver se eu não faço, mulato descarado, metido a branco, capacho de nascença? Quer ver se eu não faço? — Não, não aperte mais, não! Ai! Almério caiu dobrado no chão, Budião pôs os papéis debaixo da camisa outra vez, apanhou a navalha, fechou-a, atirou-a longe, dentro d’água. — Me dá esta mochila que não conto nada a ninguém que te vi aqui — disse Almério, ainda no chão. Budião quase riu, pensou em dar-lhe um pontapé, achou que não valia a pena. Apalpou a algibeira, encontrou duas moedinhas azinhavradas, jogou-as em cima dele. — Toma, compra mais aguardente e vai dormir. Almério catou as duas moedas com a mão raspando a areia. — Tu me deve uma surra, negro safado — disse. — Tu me deve uma surra não, agora tu me deve duas e tu vai tomar essas duas surras nem que eu morra. — Escuta — disse Budião, já andando em direção ao povoado. — Não te amasso todo porque não quero sujar as mãos e não te jogo na maré porque não quero envenenar os peixes. Mas, se tu continuar a falar, se tu falar qualquer coisa, eu vou enfiar tua cabeça na areia e fazer de tuas tripas isca de siri. Demorou ainda um pouco olhando para Almério, que não se levantou, e saiu devagar, subindo da praia para o capinzal. Antigamente não se conteria, viria um gosto salgado à boca e teria vontade de matar Almério, talvez matasse mesmo. Mas hoje não, hoje tinha ficado
muito feliz em jogar-lhe as duas moedinhas, não conseguia dar importância aos xingamentos e ameaças, queria apenas andar e rever aquela ilha que não era sua terra mas parecia ser, depois de tanto tempo vivendo tão longe que muitos lá não acreditavam na existência disto cá. Até mesmo ele, cevando mate, passando o porongo aos outros na noite tão diferente do pampa, enfiando carne churrasqueada em salmoura fervente para cortá-la junto à boca, aprendendo palavras e gostos novos, também duvidara às vezes de que tinha vindo de outro lugar, não sabia direito quem era, a não ser pela lembrança de Merinha e dos conspiradores da casa da farinha. Era muito difícil compreender a vida, mesmo depois de se viver a fundo, mesmo depois de se saber de segredos muito restritos, mesmo depois de se achar que se conhecia a verdade, pelo menos alguma verdade ou parte da verdade. Porque a verdade era que não se compreendia nada, pensou, embora sem se preocupar com isso como de outras vezes. Era tudo muito bonito aqui, tudo cheiroso, claro e luminoso. Parou para admirar um pé de acácia florido, espantou-se em notar como se lembrava dos pés de acácia da Armação com muita clareza, não tinha antes ideia de como faziam parte de sua cabeça. Junto das raízes da grande árvore, cinco ou seis buracos de grauçá, caranguejinhos louros se assustando com sua presença, tensos às portas de suas casas, prontos para entrar assim que ele se movesse. Imaginou que, se tivesse falado na Província sobre a existência de uma árvore dourada cercada de caranguejos talqualmente dourados, seria chamado de mentiroso. Fingiu que ia dar um bote nos grauçás, eles se desabelharam às carreiras, logo não mais se viam, somente os buraquinhos redondos ornamentando as raízes expostas. Muito bonito, pensou, muito bonito. E também estava se achando, ele mesmo, muito bonito. Não sabia com que cara estava, nem esfregado água nos olhos tinha, mas se sentia garboso, dando passadas largas com suas botas de campanha, sua mochila campeira, seu chapéu de couro, seu bigodão emoldurando a boca, seu lenço vermelho ao pescoço. Bem, ainda estava com fome, talvez o melhor negócio fosse ir primeiro ver Zé Pinto, cuja casinha ficava no meio das tiriricas, um pouco acima da praia. Pegava qualquer fundo de panela para comer, qualquer coisa, conversaria com o velho, marcaria um encontro com Feliciano e ele, para acertar umas coisas. Nada de muita pressa, nada de muita afobação, tudo aqui sucede devagar, a vida dos últimos anos já fora vivida depressa demais. Mal reparou que, até chegar à trilha da casa de Zé Pinto, os meninos o seguiram a distância e os olhares de todos se fixavam nele. O velho tinha uns quiabinhos, uns maxixes, tinha coentro, hortelã, cebola, farinha e duas cabeças de mero grande. Fizeram escaldado com pirão afogado na pimenta. Budião comeu com um prazer tão inesperado que ria e gemia todo o tempo, enquanto o velho, mastigando com os lábios para fora porque não tinha dentes, o olhava divertido. Uma pitangueira cujos galhos entravam pela janelinha exibia frutas tão cerradamente que pareciam vir em cachos. Budião puxou a galha maior, encheu as duas mãos de pitangas, chupou uma por uma com os olhos fechados. Depois não teve disposição para falar durante muito tempo e só a custo levantou-se para cevar seu mate. Despejou um pouquinho de água fria sobre a erva, pegou a chaleira, derramou água fervente no porongo até quase a borda, ajeitou-se de novo no chão. Zé Pinto perguntou o que era aquilo, ele respondeu preguiçosamente que era um costume entre os muitos que tinha pegado lá na Província do Rio Grande, onde combatera contra o Império do Brasil, embora lá também fosse Brasil, mas era uma coisa difícil de explicar.
Tudo, aliás, era difícil de explicar, nem mesmo o velho Dandão parecia compreender algumas coisas, ainda havia muito o que aprender. Mas como aprender? Certo, tinha aprendido muito naquela viagem e naquela grande guerra de dez anos, tinha ganho a liberdade, tinha visto mais em pouco tempo do que muitos na vida, mas haveria então de sempre estar nesses combates para aprender? E que tinha de fato aprendido, não seria necessário aprender a aprender? Aquela guerra, ele sabia, não era uma guerra dele, embora no começo pensasse que sim. Mas também era, não seria? Difícil saber qualquer coisa, muito difícil, e nem mesmo na posse de alguns de seus segredos podia ter certeza de que a Irmandade existia. Sem sentir, como se o chimarrão subindo fumegante pela bombilha o embriagasse, contou devaneando que lutara muito, que passara de carregador e serviçal a combatente, mas que combatera como preto, sempre como preto, sempre diferente mais do que na cor, sempre por baixo, mesmo que no alto. Nisto era que lhe vinha maior confusão, pois achara que era coisa do Povo Brasileiro como todas as coisas da Irmandade — mas como podia ser, se para ele parecia continuar a não haver lugar? Perguntara sobre este assunto a Dandão e este lhe dissera que a vida e a compreensão são constituídas de muitos passos, nem todos que dão um passo conseguem dar outro, nem todos os passos chegam ao fim do caminho e, além do mais, ele também só tinha entendimento até certo ponto e não conhecia o futuro nem os enredos que, tinha certeza, estavam sendo traçados para eles. Ninguém nos conta o enredo — havia falado Dandão —, mas é só seguir bem seguido o mandado da consciência para cumprir o enredo, pois a ninguém se nega ver o que é preciso fazer para cumprir o seu enredo, só a pessoa é que pode se negar a ver ou cumprir. Dandão morreu no sétimo ano da guerra, tão forte como sempre fora e sem tempo para despedir-se. Contudo, parecia que sabia que ia morrer, porque, antes de sair na patrulha de que não voltaria, lhe passara sua bolsa, com a canastra dos segredos. Ainda estava ali com ele, em sua mochila, e não podia dizer que conhecia bem esses segredos, eram visões que se revelavam melhor depois de vividas, não era um conhecimento simples, mas algo que sempre mudava conforme os atos e a experiência de quem o procurava. Existe a Irmandade, quem é a Irmandade? Seriam eles, sim, mas não só eles. Havia alguma coisa em certas pessoas, um jeito de andar, um jeito de falar, um tipo de voz. Havia umas ajudas misteriosas, umas interferências, umas concordâncias sem que se precisasse conversar, umas coisas de que não se gostava em comum. Ah, não sabia nada muito explicado dessas coisas, mas sabia que a liberdade de um não era nada sem a liberdade de todos e a liberdade não era nada sem a igualdade e a igualdade há que estar dentro do coração e da cabeça, não pode nem ser comprada nem imposta. Ah, não sabia nada, queria apenas conversar com Feliciano e Zé Pinto juntos, queria saber também de como ia a vida por aqui, quais as novidades, o que tinha acontecido nestes anos todos. Afinal, eram os conspiradores da casa da farinha, eram ou não eram? Pediu a Zé Pinto que guardasse a mochila. Tirou somente o poncho, que podia ter serventia de noite, recomendou que tomasse cuidado com a canastra que Júlio Dandão deixara, melhor que a escondesse, que a esquecesse e não tentasse abri-la. Iria dar uma volta pelas redondezas, talvez andasse até Amoreiras, não sabia bem o que ia fazer. Era possível que Feliciano estivesse aqui sábado de noite? A senzala da caieira era longe e, a depender da
maré, podia ser que Feliciano ficasse trabalhando até tarde no sábado, era incerto que pudesse escapulir até o Manguinho. Bem, mas vai se ver. Budião enfiou na cabeça o chapéu, que estava pendurado no pescoço, levantou a mão. — Viva nós! — disse sorrindo. — Viva nós! — respondeu Zé Pinto muito sério. Budião pôs os pés fora da casinhola, esticou os braços, respirou fundo, principiou a andar devagar trilha abaixo. Caminhou até perto da praça, pensou se iria pela praia até Amoreiras, virou-se distraído quando uma mão lhe tocou no ombro. — É este daqui? — perguntou um homem fardado a Almério, que vinha atrás de dois outros uniformizados. — É este, é este. — É a guarda — disse o homem a Budião. — Teu bilhete. Budião passou-lhe os papéis. — Isto não é um bilhete. Isto são papéis sem valor. — Estes são os papéis da minha anistia e de minha alforria. — Aqui isto não tem valor nenhum, isto é coisa da Província do Rio Grande. — Não, é do Império, é do Imperador. Fui combatente da Guerra dos Farrapos, anistiado. — Isto pode ser, embora não creia. Para nós é um escravo fugido do Engenho do Manguinho. Faustino da Costa, com ferro da Armação do Bom Jesus? Não esperou resposta, puxou com um safanão a camisa de Budião, conferiu a marca do peito. Fez um sinal para trás e seus companheiros acorreram, um deles com a clavina em riste, o outro empunhando um porrete, correntes e cordas. Cruzou os braços de Budião às costas, passou-lhes o porrete pelo meio, amarrou-os com três nós complicados. Nos pés, meteu-lhe a ferropeia de corrente curta, uma coleira de corrente comprida no pescoço. — Anda! — disse o primeiro homem. — Ficas a ferros na Ponta das Baleias até que teu dono venha resolver o que fazer contigo, anda! Bateu nas espáduas de Budião com uma espécie de rebenque que trazia debaixo do braço, amarrotou os papéis para enfiá-los na algibeira, apontou em direção a uma carroça puxada por dois burros, que esperava do outro lado da praça. Almério seguiu junto a eles, até que o homem estacou. — Que queres? — perguntou com rispidez. — Já fizeste a tua parte, nada tens mais conosco, vai-te embora. — Ele tem dinheiro. Seria justo que eu, por achá-lo e encaminhá-lo às autoridades... — Isto não é comigo, ajeita-te lá com o capitão Teófilo. Anda, escafede-te antes que eu te vá ao espinhaço! E os senhores aí, vamos com esse negro! — Ele tinha uma mochila! Perguntem pela mochila! — gritou ainda Almério, parado embaixo de uma amendoeira, enquanto amarravam Budião à carroça, se encarapitavam e seguiam para a Ponta das Baleias, ele arrastado atrás.
Arraial do Baiacu, 12 de maio de 1841.
Um dos maiores prazeres que existem é sair depois de uma pancada de chuva pesada mas ligeira e sentir nos pés a água morninha empoçada nas lajotas que o sol vinha esquentando. Dafé lembrou que, se vô Leléu estivesse no Baiacu e não na Bahia resolvendo negócios, reclamaria ao vê-la de saia arrepanhada e descalça, arrastando os pés nas poças com os artelhos bem abertos para desfrutar melhor do calorzinho. Reclamava tanto, o Vô Leléu! Verdade que era muito bom, fazia tudo o que ela queria, mas reclamava bastante — não faças isso, não faças aquilo, isto não fica bem para uma moça, que é que a senhora pensa da vida? Uma vez ela tentara responder honestamente a essa pergunta. Mas não sabia o que pensava da vida. A vida, a vida... A vida era quando estava viva, como aqui no Baiacu, no meio dos bichos e das plantas. Se estava satisfeita com isso? Não, não estava, bem que podia sair por aí vendo o mundo, vendo mais coisas, conversando com mais gente, indo a festas, conhecendo príncipes e princesas e heróis... Ah, é isso que tu pensa da vida, que a vida é viajar e conhecer príncipes e princesas, hem? Apois não é! Apois não é, vai muito erro nisso, a vida não é isso! A vida é trabalho, dissera vô Leléu. A vida é trabalho, tribulação, trabalho, vigilância, trabalho, olho vivo, trabalho e por aí vai. Então ela respondera que nesse caso queria trabalhar, que ele lhe desse o comando de um barco de pesca, como mãe Vevé comandava a Presepeira. E ele riu — ora, menina, mas ques ideias, s’assunte não, destá! Visse lá ela se ele lhe tinha dado esmerada criação e a trazia na fartura para que ela fosse pescadora! Mas a mãe não era? Bem, dissera ele, tua mãe é maluca, não é a mesma coisa. Então me dê um trabalho, pedira ela, porque quero saber da vida. Ele riu de novo e disse que havia muitos trabalhos que ela podia fazer, como bordados, como doces, como rendas, como vestidos e engomação de roupa. Ah, quer dizer então que lhe dera ele tão esmerada criação, em que tanto aprendera sobre príncipes e princesas e grandes heróis, para que engomasse roupa para fora? Era isso que ele pensava da vida, que a vida era engomar roupa para fora? Não, não era isso que ele pensava da vida. Mas ele mesmo fora hortelão, fora quitandeiro, fora algibebe, fora peixeiro, fora palhaço, fora negro cativo castigado, fora tudo o que se podia ser neste mundo e agora estava ali e só sabia uma coisa, coisa esta que tudo é trabalho. Então me arranje um trabalho, respondeu ela, mas que não seja bordar, que não seja fazer doces, que não seja trançar rendas, que não seja de costureira, nem muito menos de lavadeira e engomadeira. Ah, fizera ele, isso também não é assim. E de mais a mais, acrescentara, o que eu penso para ti, o que eu mais penso para ti é que te cases e que sejas boa mãe de família e me dês bisnetinho atrás de bisnetinho, o primeiro Tadeu, o segundo Jacinto, o terceiro Belarmino, o quatro Vicentino, o quinto Lourival, o sexto Joaquim e o caçula Leovigildo, que eu vou fugir com ele e criar para meu filho, ha-ha! Pois então me arranje um casamento, respondeu ela, podendo ser um príncipe, podendo ser um grande capitão, podendo ser um visconde ou um governador. Vô Leléu embatucou, embatucou, desconversou o mais que pôde, mas não teve jeito. Se a vida era trabalho ou casamento, tinha de provar isso, senão a vida era qualquer coisa que
ela quisesse, e isto mesmo ela falou, com os punhos fechados na cintura. De forma que vô Leléu, depois de bastante matutar, resolveu que ia botar para ela uma escola, uma escolinha bem pequena mas decente, ali mesmo no Baiacu, para que ela fosse a professora dessa escola, assim trabalhando enquanto não vinha o casamento — este garantido, pois quem não quer casar com uma professora bela? Então, quando viajasse à Bahia, ia comprar cadernos, uma lousa grande, muitas lousas pequenas, as cartilhas do á-bê-cê e mais todo o material para bem ensinar as letras e as contas. Dafé pediu também que trouxesse livros de figuras e ele disse que sim. E uma palmatória de pau de pitangueira para as sabatinas! E uns tinteiros e umas penas e papel almaço e mata-borrão e um frasquinho de goma! Ah, pensou Dafé, mergulhando os pés numa poça mais funda e gostando que estivesse soprando um ventinho frio, tomara que ele chegue hoje. Ainda faltava tanto para que a escola ficasse pronta! Bem, não faltava tanto assim, faltava somente que ele mandasse mudar a palha do telhado da casinha que arranjara. Mas tudo leva tempo demais, mal podia esperar para trabalhar e conhecer a vida. Tinha juntado todos os livros e cadernos do tempo de dona Jesuína, tinha até mesmo ensaiado algumas frases para os alunos. E, sim, quem seriam os alunos? Todos, resolveu, todos serão alunos, todos. Vô Leléu tampouco concordaria com o que estava resolvido para hoje. O que estava resolvido era que ela ia sair na Presepeira, junto com a mãe e os moços de pescaria. Talvez fosse mais um passeio, porque já era tarde para uma pescaria às direitas, mas Vevé tinha prometido que iriam atrás do peixe, sim. Passeio ou não, vô Leléu não ia gostar, mas o que o olho não vê o coração não sente e depois é bobagem dele. Então saíram, Vevé de mestre, Sambulho, Nego Régis, Odorico e Nego Feio, uma coisa mais que linda, a lancha cambando como um boto, o cordame e as madeiras gemendo, a proa querendo levantar voo e cortando as ondinhas numa tesourada veloz, um cardume de agulhões dançando em pé a sotavento, somente os rabinhos ciscando a flor-d’água. Dafé deitou-se à beira, meteu os dedos na água, abrindo às vezes uma, às vezes duas ou três esteirazinhas de espuma. Nego Feio, o calo de empurrar mourão no peito sacudindo como uma teta maluca, ia praticar as marcas das pedras, das coroas e dos baixios, todos lugares de peixes de linha, que cabia ao aspirante conhecer. Ficou em pé no banco à meia-nau, fez sombra nos olhos com a mão em concha, apontou para dois morrotes na costa. — Dali, correndo uma linha daqui — disse, desenhando traços invisíveis no ar. — Amainando aí! A Presepeira rangeu de novo, os moços deram nas cordas do velame, Vevé cambou a boreste, como quem fosse chegar de banda ao ponto que Nego Feio indicava. Mas não chegou de banda, chegou apenas meio enviesada. — Nessa vazante, tem de arriar a poita umas trinta braças na frente do ponto e deixar correr a corda — disse Nego Feio. — Tou indo — disse Vevé. — Tu fala. — Aê-aê-aê! — gritou Nego Feio. — Rêia a poita de proa, Sambulho! — Solta ela a prumo, Don’Vevé? — Segure um tanto! Quantas braças a pique, Nego Feio? — Não mais de vinte na parte funda, que é aqui. Deixe a prumo mais ou menos,
correndo um pouco, que a lancha vai acertar com a maré nessa direção. — Quando ela acertar, diga. — Vai poder jogar a linha aqui — disse Nego Feio, com orgulho de sua navegação porque a lancha, balançando molemente e ecoando pelo casco a quebrada das ondas, retesou o cabo da poita na posição que ele previra, puxada pela correnteza da vazante. — Pronto. Dentão, olho-de-boi, vermelho, cabeçudo, pescada, tudo pedra aí embaixo! — Corta as lulinhas, Dorico, olha a leseira! — Muita água doce aí embaixo, hem Nego Feio? — É o Paraguaçu, Don’Vevé, mas o peixe vem, aí embaixo tem xumberga beliscando, de vez em quando uma corta a água na flor! — Quede a lulinha, esse menino? Sem conseguir resolver para onde olhar durante todo esse tempo, Dafé se admirou de haver tanta ciência naquela gente comum, se admirou também de nunca ter visto nos livros que pessoas como essas pudessem possuir conhecimentos e habilidades tão bonitos, achou até mesmo a mãe uma desconhecida, misteriosa e distante, em seu saber antes nunca testemunhado. Quantos estudos não haveria ali, como ficavam todos bonitos fazendo ali suas tarefas, agora também ela ia ser pescadora! Até pouquinho, estivera meio convencida, porque ia ser professora e portanto sabia muito mais coisas do que todos eles juntos, mas se via que não era assim. Tinha gente que pescava o peixe, gente que plantava a verdura, gente que fiava o pano, gente que trabalhava a madeira, gente de toda espécie, e tudo isso requeria grande conhecimento e muitas coisas por dentro e por trás desse conhecimento — talvez fosse isto a vida, como ensinava vô Leléu, quanta coisa existia na vida! Que beleza era a vida, cada objeto um mundão com tantas outras coisas ligadas a ele e até um pedaço de pano teve alguém para prestar atenção só nele um dia, até tecê-lo e acabá-lo e cortá-lo, alguém que tinha conhecimentos tão grandes como esses pescadores e navegadores, mas já se viu coisa mais bonita neste mundo do nosso Deus? Dafé sentiu até um pouco de vontade de dançar, deu uns tapinhas acelerados na borda do barco, deu uns gritinhos, sapateou de emoção, correu de um lado para o outro, vendo aqui o peixe que vinha, ali o anzol sendo iscado, acolá o plaf-plaf das chumbadas engolidas pela água — mas oba, oba, oba, esta vida não é uma beleza cheia de novidades? Agora ela também queria trabalhar de navegadora e pescadora. Mas também queria ser professora. E o que é que ela queria mesmo? Queria ser tudo, isso sim! Porque cada ofício tem o seu conhecimento da vida, quantos lados tem a vida, vô Leléu? Chegou quase esvoaçando junto a Sambulho, que não era mais fraquinho, engoiadinho, amarelinho como antes, era uma verdadeira pintura de boniteza, com sua pescada branca subindo lustrosa na ponta da linha. Por todo lado uma faiscação de escamas e respingos de todas as cores, os peixes, com as bocas trespassadas por anzóis que pareciam pequenos demais para pegá-los, rabeando nos ocos do barco — até ela mesma, rindo de nervoso, não puxou uma carapeba? E a arraia enorme, mais assemelhada a uma ave-fragata que a um peixe, que veio na linha de Vevé? Voltando depois do meio-dia, Dafé não conseguia sair de perto das pilhas de peixes amontoadas nos balaios. Alguns deles ainda se batiam de vez em quando, outros como que arfavam, as guelras subindo e descendo cada vez mais devagar, outros já estavam
endurecidos, entortados feito ganchos. Já na praia, acompanhou a descarga de cada balaio, foi assistir à pesagem e ao trato do peixe, ficou de junto das gamelas e panelas espiando o preparo do jantar, tomou conta de sua carapeba sendo frigida, para que ninguém a comesse no lugar dela. Já de tardinha, nesta época do ano em que escurece cedo, resolveram ir a pé ali da ilha dos Porcos para o Outeiro, porque podia ser que Leléu viesse pelo outro porto e não ia gostar de não encontrar Dafé em casa, ainda mais se trouxesse os bregueces da escola, como era bem possível que trouxesse. Como a ilhazinha, na maré vaza, vira península, puderam passar pela trilha do apicum e cortar caminho pelo mato, perto de quatro casarões abandonados, com o mato crescendo por cima das paredes e irrompendo pelas janelas. Tiveram por isso uma surpresa, quando toparam com um carro de boi do tipo que se encontra nos engenhos, parado no portão de uma das casas, e ouviram vozes lá dentro. Dafé, que depois da pescaria estava começando a ver todos os bichos com novos olhos, quis olhar a parelha de bois, um branco e outro malhado, ruminando sem levantar os olhos. A cabeça de um rapaz apareceu numa das janelas. — Ei! — gritou ele. — Chegou quem faltava! — Vamos embora — disse Vevé, mas logo o rapaz saía pelo portão acompanhado de mais três, e elas foram cercadas. — Licença — disse Vevé, tentando andar, com Dafé pela mão. Mas eles a barraram e o que havia gritado primeiro levantou uma botija destampada. — Um trago de vinho, minha flor? — Não, agradecida. — Eugênio, lá na tua terra se permite às negras que recusem o oferecimento de um branco? — Lá não, julguei que fazia parte dos costumes liberais daqui da sua terra. — Na minha terra, não! Na minha terra, essas negrinhas safadas obedecem. Toma um trago de vinho! Ou tomas por bem ou tomas por mal! — Não, muito agradecida. Já está ficando tarde, tenho de levar minha filhinha para casa, Ioiô não se aborreça não, por favor deixe a gente passar. — Tua filhinha? Não me digas! Então este mulheraço aqui, esta negraça, este rabo, estes peitos, isto aqui é tua filha? — Deixa estar, Leopoldo, deixa que se vão. — Absolutamente! Que é que não ias ficar pensando da hospitalidade baiana? Vem cá, negrinha, deixa-te de firulas, não te vamos fazer mal, só queremos uma pândega, que me dizes? Depois te levamos a tua casa, te damos até um pró-labore, que me dizes? — Deixe a gente passar Ioiô, por favor. — Negrinha descarada! — gritou ele e puxou Dafé num abraço violento, metendo-lhe a mão por baixo. A saia de Dafé subiu, os outros se aproximaram, um deles começou a ajudar Leopoldo a segurá-la. — Não, desta vez não! — gritou Vevé. Soltou o saco de mantimentos que vinha trazendo às costas, tirou de dentro a araçanga, arremeteu contra eles girando o grande porrete acima da cabeça. Soltaram Dafé, Leopoldo
recuou alguns passos. — Negra ousada! Não te metas a besta, negrinha, que posso fazer de ti picadinho na hora que bem entenda! — Se afaste, se afaste. — Não quero nada contigo, negra imunda, quero a outra. — Se afaste. Dafé nunca conseguiu contar ou mesmo recordar direito o que aconteceu. Mas lembrava que, agarrada a Vevé caída e sangrando das mais de vinte punhaladas que recebera, o que se chamava Leopoldo ainda a puxou, mas o que se chamava Eugênio falou que deviam ir embora. — A outra está morta — disse. — Isto já está perdendo a graça, vamos embora. Muito mais tarde, mais da meia-noite, um noroeste frio batendo forte e prenunciando temporal, Leléu e mais uns oito, carregando fachos e levando cachorros de presa, encontraram Dafé sentada nos calcanhares junto ao corpo de Vevé, tão imóvel que nem os olhos piscavam. Puseram um cobertor em cima dela, arranjaram uma rede para carregar sua mãe morta, deitaram-na na cama, mas ela não dormiu. E, durante os 21 dias que se seguiram, mal se mexeu, não abriu a boca para dizer uma só palavra, permaneceu sentada de cabeça baixa, olhando as mãos abertas no colo.
Salvador da Bahia, 12 de março de 1853.
— Eu te disse, te disse sempre: cuspe em jejum! Que é que eu te dizia, dia após dia? — Cuspe em jejum. — Repete! — Cuspe em jejum. — Repete! — Cuspe em jejum. — E então e então e então? E por que não o fizeste? — Esquecia. — Esquecia? Esquecia? É só isto que tens a dizer? Esquecia? — É o que dizia ao senhor então e o que posso dizer agora. Amleto deu uma bengalada forte nos livros de contas deitados sobre a escrivaninha. É o que deveria ter feito a ele, o perfeito biltre, era seu filho mas nem por isso podia deixar de reconhecer: biltre, safardana, desqualificado. Não lhe tinha ido com a vara aos costados o suficiente, era isso. Também a mãe o protegia de todas as maneiras e estava até mesmo seguro de que muitas das doenças que ele teve, sem nunca ficar com febre ou deixar de comer como se a própria alma sofresse de bulimia, haviam sido inventadas por ela, para livrá-lo da disciplina. Resultado: aquele grandessíssimo alarve, aquele sujeito balordo e grosseirão, de aparência desagradável, mentalidade baixa e instintos mais baixos ainda, que tinha de chamar de filho, pois que o era. Pois que o era, sim, mas não parecia, porque todos saíram com
aparência de gente fina e de bem, só ele nascera com aquela nariganga escarrapachada e aqueles beiços que mais pareciam dois salsichões de tão carnudos — um negroide, inegavelmente, um negroide! O cabelo, felizmente, não chegava a ser ruim, era meio anelado, mas, com bastante goma e forçado à noite pelas toucas, podia ser penteado razoavelmente, numa espécie de massa quebradiça puxada em direção à nuca. Amleto fez menção de sentar-se, nem chegou a tocar o assento na cadeira, espigou-se para recomeçar a andar de um lado para o outro. Para aquelas ventas, teria havido remédio. Sua mãe o empregara com ele e o nariz de Carlota Borromeia ficara bem afiladinho com a mesma técnica. Ou seja, cuspe em jejum: umedecer o cata-piolhos e o fura-bolos na língua e massagear o nariz no sentido do afilamento. O nariz de Carlota Borromeia estava longe de ser simiesco como o de Patrício Macário, de forma que bastou o tratamento que lhe deram quando ainda era neném. Ele não, ele teria precisado continuar durante muito tempo, mas não havia meio nem castigo capaz de fazer com que se lembrasse de uma providência tão elementar. Aliás, não havia castigo capaz de obrigá-lo a fazer qualquer coisa, esta é que era a verdade. Na quinta-feira anterior, logo depois da discussão, em seu gabinete de casa, sobre o cuspe em jejum, Amleto havia aberto a porta para deixar entrar padre Clemente André, este, sim, menino de bons modos, aplicado, estudioso, quase louro, de educação e cultura exemplares — talvez um pouco vaidoso, assim meio afiambrado no trajar, mas um moço de feitio elevadíssimo. Queria, coitado, dirigir uma palavra de conselho a Patrício Macário, até emprestar-lhe um pouco de solidariedade, numa hora em que o pai já perdia a cabeça. Mas tudo o que conseguiu foi que Patrício Macário, depois de tratá-lo com aspereza, ameaçasse, como ele mesmo disse, ir-lhe às fuças de mãos e patas. — És um maricas, isto é o que és! — gritara ao irmão com as veias do pescoço inchadas. — És maricas e só o pai e a mãe que não veem que até requebras as cadeiras! — Respeita-me, seu moleque! — Respeita-me tu e não me ponhas as mãos em cima, que não quero saber se andas lá às sedas e ao pó de arroz e te desqueixo com um sopapo! Quase se deu a tragédia há tanto tempo temida, porque Amleto apanhou no cabide a bengala de jacarandá encastoada de bronze e marchou para atingir Patrício Macário em qualquer lugar do corpo, somente não lhe achatando a cabeça porque Clemente André se sentiu mal, levou a mão à testa, gemeu fracamente e desabou na alcatifa. — Meu filho! — gritou Amleto, deixando cair a bengala e correndo para o padre, que revirava os olhos como em fatal agonia. — Meu filho, que te fez esta besta-fera, este animal batizado? Levantou-se desatinado, mergulhou no chão em busca da bengala para voltar a atacar Patrício Macário, que, de braços cruzados, assistia à cena como se não tivesse nada a ver com aquilo. — Patife! Depravado! Desbolado! Degenerado! Já te mostro como te baixo o cangote, cachorro! Mas uma dor no peito, uma dor dilacerante e quente por baixo do esterno, lhe deteve braço levantado. Sem ar e sentindo-se tonto, amparou-se nas costas de uma cadeira, um suor gelado lhe porejando pelo rosto de repente. Correndo lá de dentro em companhia de duas
negras, Teolina cambaleou à porta do gabinete, teve também de segurar-se para não cair. — Eu mato, eu mato este aborto da Natureza, eu mato — arquejou Amleto. — Antes que nos mate ele a todos, eu o mato, castigo pior não me podia dar Deus que ter esta alimária por filho. — Não fales assim, por Maria Imaculada! Meu Santo Antônio, meu São Felipe, minha Santa Margarida, que aconteceu? Que aconteceu, Patrício Macário, meu filho? Ai, Santa Mãe de Deus, padre Clemente! De todos na casa, somente Bonifácio Odulfo, que estava dormindo e não acordou, e Patrício Macário, que só se mexeu para ajudar depois que a mãe ordenou, escaparam a pelo menos um dia de resguardo, repouso, ansiedade e fraqueza nervosa. Dr. Vasco Miguel, felizmente vindo da Casa Bancária mais tarde, para trazer uns papéis a Amleto, examinou a todos. Preocupou-se mais com Amleto, portador de dispneia angustiosa e pré-apoplexia, receitou-lhe uns brometos, confinou-o à cama, proibiu comidas fortes, trocou-lhe o café por chás de folhas verdes. Quanto aos outros, chá de camomila, silêncio, descanso. Já quanto ao Tico, paciência, sobre seu caso pouco sabia a Medicina. Tinha um colega muito interessado em moléstias nervosas, talvez conhecesse algo que pudesse exercer algum efeito sobre o Tico — se bem que, como dissera antes, pouco se sabe sobre a fisiologia dos temperamentos exaltados. E, finalmente, quanto a Bonifácio Odulfo, era um poeta e, como todos os parasitas — resmungou de si para si Vasco Miguel raivosamente —, achava-se credor do mundo, devedor só dele mesmo, nenhum mal vai a ele. Amleto quisera levantar-se no mesmo dia, mas as mulheres da família fizeram tamanhas súplicas para que guardasse o leito nem que fosse apenas pelos próximos três dias, na segunda-feira seguinte voltando ao trabalho, que ele consentiu em passar a sexta-feira deitado. Durante todo o dia teve que tomar calmantes e um refresco de maracujá atrás do outro, para conter a fúria que lhe bombeava o sangue à cabeça toda vez que lembrava Patrício Macário. Só a muito custo deram jeito de contê-lo, mas na manhã do sábado ele afastou aos empurrões os que tentaram impedi-lo e chegou ao escritório do Comércio às sete horas e um quarto, como era de hábito desde que deixara o Terreiro de Jesus. A primeira coisa que fez foi trancar-se e atacar os livros a bengaladas, sem dar importância ao barulho que isto fazia lá fora. Estava ficando acostumado a ter poder e chegava mesmo a gostar de tomar atitudes incompreensíveis para os outros e ver que ninguém ousava fazer-lhe uma pergunta. Quem quisesse que se fizesse de besta de querer saber que barulho era aquele, e chegou a pensar em dar uma bengalada na porta, mas mudou de ideia, bateu tão forte nos livros que a bengala se partiu. Conseguiu finalmente sentar-se, parou olhando para a frente e esfregando o dedo na ponta quebrada da bengala. É, mas esse moleque levaria a pior, isto levaria. Um homem como ele, respeitado por toda a Bahia e — por que não dizer? — por todo o Brasil, desmoralizado por um fedelho dentro de casa? Nunca, isto nunca! E estava exatamente na hora de pôr em prática o plano que engendrara no dia anterior e que lhe parecia cada vez mais bem pensado. Olhou a lista das providências estendida à sua frente. Tinha de mudar aquilo, aparecera coisa mais importante. Começou a fazer nova lista e escreveu diante do número 1: “Conselho de Família”. Ficou contente porque a providência seguinte, a de número 1 na lista anterior, era um breve encontro, ali mesmo, com o bacharel Noêmio Pontes, hoje seu sócio em diversos
empreendimentos, inclusive a Casa Bancária, talvez a mais poderosa de toda a região, com capital superior a quatro mil contos. Amleto interrompeu a anotação da lista e se recostou na cadeira, coçando a aba do nariz com o cabo da caneta. Ao pensar no capital da Casa Bancária, sentiu uma súbita infusão de alegria e tranquilidade. Sim, que tinha ele a temer? Por que tanto se acostumara à incerteza, à insegurança, à preocupação que, mesmo agora, quando nada disso tinha razão de ser, insistia em tremer de medo, aterrorizar-se quase? Tolice, tolice, realmente, não havia o que não estivesse a seu alcance, tinha de assumir de uma vez por todas a condição de tranquilidade e firmeza que aparentava para os outros. Mas é claro. Por que essa agonia toda, essa ânsia toda? Nada disso. Resolveu que voltaria à primeira lista, não havia necessidade de escrever a providência “Conselho de Família”, era algo que se encaminharia naturalmente, cuidaria de tudo durante o expediente normal, sem afobações. Quando o bacharel Noêmio entrou, a porta respeitosamente aberta para ele pelo oficial de gabinete Octaviano Souza, encontrou Amleto com as mãos cruzadas à altura do estômago e a mesma afabilidade um pouco apressada de sempre. Conversaram sobre os resultados recentes dos garimpos de Lençóis, sobre as plantações de fumo, os engenhos de cana, a caieira, os armazéns, a armação de navios, outros assuntos. Amleto impressionou particularmente o bacharel pela acuidade com que abordou o problema da pluralidade de bancos emissores de moeda, mostrando as vantagens que teriam os seus interesses, se efetivamente a pluralidade viesse a firmar-se. E ele sabia — ao contrário do bacharel, que tinha algumas dúvidas por achar aquilo coisa de malucos — que ela se firmaria. — O senhor pode escrever — disse. — O câmbio subirá como um rojão. Compraremos libras. Mais libras esterlinas. O bacharel concordou que comprar libras era sempre um bom negócio, mas ponderou que talvez se tratasse de uma imobilização de recursos muito grande, fundada em alicerce tão incerto quanto a tal pluralidade. Mas, em vez de impacientar-se, Amleto fez uma palestra pausada e cheia de bonomia sobre a lógica das finanças, a qual, disse, é a que estabelece como premissa maior o fato de que aqueles que detêm o comando farão infalivelmente tudo para perpetuar esse comando e tudo para justificar tal perpetuação — e a justificativa se prende a que, enquanto comandam, locupletam-se. E a locupletação é uma coisa generosa, está na verdade aberta a todos; todos, é claro, os que enxergam. Em questão de finanças públicas — sentenciou fechando os olhos com um sorriso —, mais que em qualquer outro campo, aplica-se a velha máxima: Cui prodest? A quem aproveita, a quem traz vantagens? Qualquer medida no campo das finanças públicas aproveita a alguém, não importa quão diabolicamente disfarçado isto possa estar, e geralmente não está, pois quem se encontra no comando tem por arte mais refinada o fazer quem não se encontra achar que quem se encontra cuida de atender quem não se encontra. Deu um risinho encompridado, desculpou-se por estar falando como um sofista, mas garantiu que não estava. A ideia do pluralismo amadurecera, era uma forma demasiadamente atraente de ganhar dinheiro com papel para ser ignorada, ainda que por tempo necessariamente limitado. — Em finanças públicas — acrescentou, rindo tanto que quase não conseguia falar —,
tudo é por tempo necessariamente limitado. Compramos libras. Lamentou que não tivesse o país sido colonizado por ingleses. Pediu licença para contar uma anedota, disse que seu filho Bonifácio Odulfo, um francófilo impenitente, um engraxate do tenentinho corso — coisas de poetas, que lhe passarão como passou o sarampo —, rechaçara o pedido que lhe fizera para que aprendesse o Inglês. — Língua de bárbaros! — dissera. — Uma língua que não tem subjuntivo só pode ser suspeita! Amleto confessou que rira muito com aquilo. Mas depois, seguindo o costume de esmiuçar antes de dormir tudo aquilo que o fizera rir, chegou à conclusão de que a ausência de flexão verbal no Inglês era sinal de superioridade. — Flexões verbais em excesso tendem a emperrar a mente em caminhos estéreis — disse. — Se um francês pensar em fazer algo para que não encontre um preciso modo, tempo e flexão, não pensa mais. Riu outra vez, chegou a pedir desculpas novamente por estar naquela veia irresistível, não sabia o que dera nele. Mas logo recobrou a compostura e procurou entre suas anotações alguma coisa que ainda não tivesse tratado com o bacharel. Estava tudo já cortado por riscos enérgicos da pena, mas restava algo a resolver. — Ainda tinha alguma coisa a conversar com o senhor — começou a dizer. — O novo saveiro para a caieira, a distribuição de apólices do Fundo... Mas, sim, claro, como pude esquecer? — Fez uma pausa longuíssima, chegou a abrir a boca um par de vezes para começar a falar, bateu palmas sem afastar os pulsos, como se estivesse querendo mimicar uma borboleta. — O senhor sabe, durante todos estes anos em que temos convivido, a nossa amizade pessoal prosperou tanto quanto os nossos negócios, senão até mais, para honra minha. — Honra minha, comendador Amleto. Amleto sorriu. Gostava de ser chamado de comendador, era incomparavelmente melhor que ser chamado de senhor. Fez uma ligeira mesura de cabeça para o bacharel, continuou a explicar-lhe que se sentia seu amigo e, por conseguinte, seu confidente. Contou-lhe como Patrício Macário lhe causava todo tipo de problema, criando uma situação doméstica intolerável. Depois de muito sofrimento, muitas dúvidas e hesitações, muitos instantes em que estivera à beira de precipitar-se a um ato de loucura ditado pela cólera, chegara finalmente a uma decisão definitiva, a única cabível no caso. Encontrara-a depois que um incidente entre ele e o filho mais moço quase dera fim a seus dias, até este momento se sentia fraco e sujeito a desfalecimentos. Mas a formulara com ponderação, equilíbrio e madureza, estava tão seguro dessa decisão que somente argumentos muito fortes, fortíssimos, irrebatíveis, o demoveriam. Pediu desculpas por não poder ainda revelar qual era a decisão. Mas fá-lo-ia ainda hoje, no Conselho de Família que estava convocando e ao qual esperava que o bacharel Noêmio Pontes lhe desse a honra de comparecer. Às duas horas estaria bem? Era sábado, podiam encerrar o expediente mais cedo. Ele mesmo, Amleto, estaria em casa pelas onze e não voltaria à tarde. — Fico honradíssimo, meu caro comendador e amigo, honradíssimo — disse o bacharel, levantando-se como se não tivesse conseguido permanecer sentado. — Creia-me, meu distintíssimo amigo, que honra é a que me faz o amigo. Estarei também providenciando a ida do monsenhor Bibiano, que batizou o rapaz e é nosso
conselheiro espiritual e confessor e do major Francisco Magalhães, que é seu padrinho. Julgo que também devemos ter a participação do Dr. Vasco Miguel, do padre Clemente André, meu filho, e de Bonifácio Odulfo também, embora eu não acredite que ele vá interessar-se. Mas também é filho, já é um homem, não quero depois que diga que foi ignorado numa questão de família. — Bem pensado, muito bem pensado. E tenho certeza de que a decisão terá sido a mais acertada, estou seguro de que a apoiarei. — Espero que sim. Como disse, só argumentos fortíssimos me demoveriam. Sentiu-se muito bem-disposto depois que o bacharel saiu. Abriu a janela e pôs a cabeça para fora. Estava um belo dia, era sem dúvida um belo dia em todos os sentidos. Nada como a determinação, o equilíbrio e a coragem das resoluções para revigorar um homem de responsabilidade. Voltou à escrivaninha, puxou seu bloco de papel monogramado, rabiscou três bilhetes: um para monsenhor Bibiano, um para o major Francisco Magalhães e outro para Teolina, pedindo-lhe que assegurasse a presença em casa, às duas horas da tarde, do padre Clemente e de Bonifácio Odulfo, assunto da máxima importância. Sobrescritou três envelopes, puxou a cordinha da campainha e Octaviano entrou imediatamente. — Faça levar estes bilhetes agora mesmo às pessoas cujos nomes estão nas sobrecartas. Muito bem, Sr. Octaviano, é só. Que foi? Octaviano titubeou, ficou vermelho. Não era nada, era que sabia das instruções do senhor comendador para não ser perturbado, mas fazia semanas que aqui vinha quase todos os dias uma senhora, uma senhora parda e modesta, mas via-se que era gente decente, para querer falar com o senhor comendador. — Inscreva-a na lista de caridade — disse Amleto. — É sempre o que essa gente quer, acham que podemos sustentar a Humanidade. — Já a inscrevi, senhor comendador. Mas ela diz que não quer esmolas nas festas dos santos, quer mesmo falar com Vossa Excelência. — Mas por que quer falar comigo? Não tenho tempo para falar com todos os que me procuram. Quem é essa senhora? — Diz que é viúva de um funcionário do senhor barão de Pirapuama, mais tarde de Vossa Excelência, um certo Horácio Bonfim, se não estou equivocado. Amleto conteve a custo uma exclamação. Que quereria essa mulher aqui, tantos anos depois de seu marido haver sido demitido, para morrer logo em seguida? Não tinha um montepio? Certamente tinha, e mais alguma coisa também, que podia estar pretendendo agora? Não devia ser coisa boa, mas o melhor era ver logo de que se tratava. — Está bem, Sr. Octaviano, pode mandá-la entrar. — Sim, senhor. E aqui estão os papéis de hoje, que o senhor me mandou classificar e arrumar. — Deixe-os aí. Não gostou da maneira com que Octaviano arrumou a pasta dos papéis, ajeitou-a para que a margem de cima ficasse perfeitamente paralela à borda da mesa. Eram essas pequenas coisas que distinguiam os Octavianos dos Amletos, pensou. Ou até os Horácios dos Octavianos, porque aquela pústula seria incapaz de procurar satisfazer as exigências de
arrumação de seus superiores, precisava que tudo fosse mandado. Lembrou como Horácio se surpreendera ao ver-se despedido no fim de um dia de trabalho igual a outro qualquer. Com certeza se sentia seguro, sabendo que Amleto sabia que ele sabia das falcatruas contra o patrimônio do barão, de tanto que bisbilhotava, espionava e escarafunchava. O que não sabia — e foi o que se viu no seu rosto empalidecido depois que descobriu — era que Amleto tinha mandado um serralheiro abrir suas gavetas e sua divisão no armário grande, tirando de lá todos os papéis. Todos, não só os que comprometiam Amleto, como os que o comprometiam, até mesmo os vales de jogos de cartas e de dados que não tivera a prudência de destruir. Amleto riu por dentro, lembrando o ar de desamparo dele, quando lhe falou com toda a calma: — Console-se, Sr. Horácio Bonfim. E até devo ao senhor um agradecimento, que é por haver aprendido consigo uma lição. Lição esta que é não guardar documentos em excesso, pois do nosso passado convém que saibamos nós próprios e mais ninguém. O senhor acaba de dar-me uma grande lição de História, Sr. Horácio Bonfim. Fora daqui. Estava até revivendo e quase repetindo alto as palavras que dissera então, quando a mulher entrou, apresentada por Octaviano como Dona Maria d’Alva Bonfim. Encarou-a com ar severo, não a convidou a sentar-se de propósito. — Pois não? — disse, entrelaçando as mãos sobre a escrivaninha. A mulher estava nervosa, teve dificuldade em começar a falar, principalmente depois que ele se levantou e, junto à janela, declarou-se sem tempo a perder. Finalmente, gaguejando muito e pedindo desculpas a cada frase, disse que Horácio era um bom homem, sempre fora bom marido, vivera para o trabalho e para a casa. Se tinha uns dois defeitos, nisso se igualava a qualquer homem de sua condição, filho de gente muito humilde e curtido na labuta desde a primeira infância. Mas a verdade era que não a deixara sem arrimo, desde aquele dia fatídico em que voltara do trabalho demitido e, duas horas mais tarde, tivera o vexame que o paralisou na cama mais de quarenta dias, até que a morte misericordiosa o levou. Deus não lhes dera filhos e também não puderam construir patrimônio sólido, mas ela havia ficado com a casa em que moravam no Tingui, existia o pequeno pecúlio da Caixa, a hortazinha do quintal, umas galinhas e duas casinhas de aluguel, que lhe permitiam viver, embora com modéstia. Mas agora a velha casa, em que tinham morado toda a vida de casados, desde o tempo do senhor barão de Pirapuama, que Deus há de ter em Sua Santa Glória pelo muito que fez pelos pequenos, estava ameaçada de desabar, a chuva lhe tinha causado muitos estragos, quase não se podia mais morar nela. Não tinha dinheiro para os consertos, que ficavam muito caros, como ele podia ver nessa estimativa que agora lhe mostrava. Amleto impacientou-se, não quis olhar o papel. Aquela len-ga-lenga não conduzia a coisa alguma, não podia perder seu tempo ouvindo histórias que não lhe despertavam o mínimo interesse. Ela pediu desculpas outra vez, tirou da bolsa um caderno de capa dura e lhe explicou que, antes de morrer, Horácio tinha conseguido, a duras penas, falar a ela sobre esse caderno e ainda lhe tinha sussurrado que valia dinheiro. Como ela não sabia ler direito, não conhecia aquelas palavras difíceis e não tinha ninguém no mundo a quem recorrer, pensara em procurar o Excelentíssimo senhor doutor comendador e tentar por meio daquilo conseguir alguma ajuda. Quem sabe Horácio não tinha mesmo razão e se tratava de um documento de valor? Amleto tomou o caderno, montou as lunetas no nariz, abriu a primeira página. Como se
fosse o frontispício de um livro cuidadosamente diagramado, estava lá escrito: “DIÁRIO DOS ACONTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS DO SENHOR BARÃO DE PIRAPUAMA SOB A ADMINISTRAÇÃO DO GUARDA-LIVROS AMLETO FERREIRA — Relato de autoria de HORÁCIO BONFIM, destinado ao esclarecimento do senhor barão e da Posteridade”. Começou a folhear algumas páginas, aparentando apenas um interesse leve. Não eram muitas, talvez umas trinta, escritas em letra miudinha e muito emendada. Mas lá, numa profusão de detalhes difícil de crer, estava anotado tudo o que acontecera no escritório desde que o barão caíra de cama. — Canalha! — disse Amleto entre dentes. — Vossa Excelência falou? — Não, apenas uma exclamação casual. A senhora tem cópias disto? — Não, senhor, ele me disse que tomasse cuidado, pois esse era o único lugar onde estavam feitas essas anotações. — Ainda bem. Isto não tem o menor valor, mas são segredos da firma que o seu extinto marido achou por bem anotar desta maneira, não sei com que propósito. A senhora mostrou isto a alguém? — Não, senhor, nunca mostrei a ninguém, este caderno estava guardado desde que o finado se foi, todo empoeirado num baú. — A senhora agiu com responsabilidade. E com sorte, acrescento, pois seu marido estaria em graves dificuldades, mesmo depois de morto, se isto fosse divulgado. — Quer dizer que isto de fato não tinha valor? — Para ele. Para ele, é possível que tivesse. Não sei o que certas pessoas pensam. Mas, de qualquer maneira, foi bom que a senhora me trouxesse isto, acontece que sou a única pessoa a quem documento tão irresponsável podia ser confiado. — Mudou de expressão, cruzou os braços. — E, infelizmente, não lhe posso dar a ajuda que pretende, ultrapassa em muito as minhas disponibilidades no momento, vivemos uma época de crise. Não obstante, vou dar-lhe um cartão para o Sr. diretor de Obras do Município, solicitando que ele lhe conceda alguma assistência, na medida do possível. É para estas coisas que existe o Poder Público, de qualquer forma. E, como demonstração de boa vontade, também lhe darei outro cartão, este para o Sr. Emídio Reis, que é proprietário de algumas lojas, para que ele verifique se não lhe pode ceder algumas sobras de material ou algo que esteja um pouco defeituoso mas ainda utilizável. Puxou a sineta, disse a Octaviano assim que ele entrou para redigir os dois cartões. Fez sinal para que ela se retirasse, mas, antes de a porta fechar-se, chamou-a de volta. — Toma cá — disse, estendendo-lhe cinco mil-réis. — Não é pelo seu marido, é pela senhora. Passou a chave na porta, sentou-se e abriu o caderno ao acaso. Deu com uma página epigrafada pelo título “O Esbulho das Provisões”. Um pouco trêmulo, começou a ler: “As provisões adquiridas para os estabelecimentos do senhor barão são constantemente desviadas, às vezes completamente, para estabelecimentos do Senhor Amleto, que mantém-nos em conluio com seu parente, o Senhor Emídio Reis. Na quinta-feira, 23 de agosto do ano da Graça de 1827, o Senhor Emídio Reis, irmão da esposa de Amleto Ferreira, veio ao escritório
e nessa ocasião...” — Canalha! — rosnou Amleto, fechando o caderno com estrondo.
Bonifácio Odulfo desceu para o gabinete do pai com mais de meia hora de atraso. Encontrou a porta fechada e Teolina praticamente encostada nela, tão aflita em perceber o que se passava lá dentro que nem reparou na chegada do filho e se assustou quando ele lhe falou para perguntar que horas seriam aquelas. — Meu filho! — disse ela, levantando as mãos e dando uma corridinha de ida e volta à sala, para olhar o relógio. — É quase um quarto para as três e tu ainda estás aqui? Cuidei que já estavas aí dentro, desde o meio-dia que mando acordar-te! Teu pai desta feita vai à serra, já está encavacado desde a manhã e agora tu chegas com tanto atraso a esta conversa que ele considera tão importante! Só espero que isto não venha a piorar a situação do teu pobre irmãozinho menor, ai meu Deus, que será que teu pai vai resolver fazer com ele? — Calma, dona Teolina, não está aí o padre Clemente para abençoar toda essa famosa função que o comendador arranjou? — E tu não soubeste? Tu não sabes que o Tico quis ir aos tapas com o padre Clemente André e quase que o pai o mata a bengaladas, não matando somente porque teve um vexame na hora? — Ouvi alguns rumores das negras, mas não lhes dei importância. E, afinal, o Tico conseguiu malhar o nariz do padre Clemente? Haveria de ser uma magnífica escarapela, com o padre enredado em suas saias de seda e o Tico a pilar-lhe as fuças com aquelas manoplinhas de elefante que Deus lhe deu! — Não fales assim! Proíbo-te que fales assim! Chegas atrasado, já por aí mostrando desdém pelas questões de família, e ainda tratas do assunto como se fosse uma pândega? Não levas nada a sério? — Perdão, minha mãe, mas o fato é que isso que a senhora chama de questões de família a mim me enfadam antes mesmo de saber do que se trata. E afinal que posso fazer para que o Tico não persista em querer dar umas bordoadas no padre? Se o fito é que eu interceda, pardon, madame, moi je n’suis pas un suicide. Não estimo o pugilato, meus músculos estão na cabeça e não nas patas, como no caso do nosso doce Tiquinho. — Já te disse que proíbo-te de falar assim! — Mas não estou a dizer mal do Tico, sempre nos demos muito bem, é o nosso querido benjamim, estou seguro de que será a alegria de minha velhice, como é a da senhora e do pai. Apenas digo a verdade. É uma questão de vocação. A minha são as letras, a do Tico é — como direi? — a arte corporal? No mundo há lugar para miolos e músculos, Bonifácios e Ticos. Bem, mas acha a senhora que devo entrar agora? — Mas claro que deves! Teu pai, se já vai zangar-se com o atraso, não te perdoaria jamais se faltasses, seria uma gravíssima ofensa. — Longe, longíssimo de mim cometer uma gravíssima ofensa contra o magnânimo autor de meus dias. Como se adentra esta furna? — Ouve cá, procura dar uma palavrinha em favor de teu irmão. Ele não tem juízo, é um menino ainda.
— Um menino de cinco ou seis arrobas, mas um menino. — Ouve o que te estou dizendo, Bonifácio Odulfo, não te metas a engraçado com tua mãe! Se não queres, como nunca quiseste, prestar-me um favor que te peço, e tão pouco te peço, pelo menos não troces desta maneira... desta maneira cretina! — Estou muito esguedelhado? O pai sempre reclama de meu cabelo. Que tal está, procurei penteá-lo ao capricho, que me diz a senhora? — Tens ainda a cara estremunhada, mas o cabelo está bem, só que precisava muito de um corte, assim não te fica bem, tira-te o ar de moço de família. — Isto é que o faz intocável, amoureuse Maman. Minha reputação não resistiria a uma cabeleira de moço de família, seria mortal. Diga-me lá, devo bater ou chamar? — Espera que eu saia daqui, não quero que teu pai me veja e pense que estou espreitando. Mas vê bem, defende o teu irmão, que não tem ninguém por ele, está abandonado à própria sorte. — Esteja tranquila, dona Teolina, comptez sur moi. A mãe desapareceu no corredor, ele fez menção de bater na porta, desistiu, experimentou o trinco, a porta estava destrancada e se abriu mais facilmente do que ele esperava, de maneira que esbarrou com alguma força no calcanhar de Amleto, o qual, circulando pelo aposento para melhor sublinhar a oratória, estava justamente terminando de bradar: — Farda! À farda com ele! Farda! Farda, farda, farda! — Perdão, meu pai — disse Bonifácio Odulfo, segurando o cotovelo de Amleto para ele não cair. Amleto estava com a frase seguinte engatilhada e, durante uma breve pausa, hesitou entre continuar ou reconhecer o ingresso do novo participante. Mas logo se recompôs, examinou o calcanhar da botina envernizada, notou a mancha causada pela raspa que lhe deu a porta, encheu os pulmões para soltar a raiva. Mas, ao contrário do que ele mesmo esperava, não disse nada, apenas fixou os olhos em Bonifácio, os lábios apertados, o cenho pregueado, o queixo subindo e descendo como havia aprendido a fazer, em anos de prática no trato firme dos subalternos. Imóvel a não ser pelo queixo e pelos ímpetos que lhe inflavam o tórax a pequenos intervalos, não tirou os olhos do filho, que começou a corar, as orelhas esquentando insuportavelmente. De início Amleto achou que demoraria naquilo apenas alguns instantes, mas foi descobrindo grande prazer em permanecer na mesma postura, sem falar nada, um silêncio latejante engolfando a sala. Bonifácio, cada vez mais vermelho, procurou para onde olhar, não conseguiu nenhuma posição confortável, terminou cruzando as mãos na cintura, de cabeça baixa. Já o silêncio se tornava insuportável de tão carregado e monsenhor Bibiano, muito incomodado, resolveu falar, depois de passar algum tempo esfregando nervosamente as mãos na barriga, que se esparramava sobre a faixa da cintura. — Sim, mas dizia o comendador... — Eu falava sobre filhos, monsenhor. Falava sobre filhos, sobre a inconsequência desta geração desfibrada e sem rumo, sem senso dos verdadeiros valores e sem noção de responsabilidade. Olhou novamente para Bonifácio, que não levantara o rosto.
— Por favor não me dês explicações, não quero ouvir tuas explicações, nem gracejos em teu francês de peralvilho. A decisão que tomo quanto a teu irmão também não te faria mal, de forma que deves procurar agir como um homem de tua idade e origem, não como um malandro malnascido. Toma assento e procura falar somente se tiveres algo, efetivamente algo, a dizer. Acompanhou os movimentos de Bonifácio da porta até uma cadeira, ainda olhou para ele fixamente mais algum tempo. Finalmente, encostando as pontas dos dedos umas nas outras, os indicadores tocando os lábios, olhou para cima como quem busca no teto o fio da conversa. — Mas, dizia eu que a decisão, inclusive depois de ouvir as sugestões dos presentes, que considero ajuizadas, construtivas e criteriosas, é definitivamente a farda. Sei das terríveis consequências disto, até mesmo para o bom nome da família. O Exército não é uma ocupação honrosa, nem digna de um homem de bem, é coisa do rebotalho da Nação, como se nota, diante dos nossos olhos, a cada instante. Nem mesmo a sua função policial é cumprida a contento, pois que mais se amotinam os soldados do que qualquer outra coisa, um bando de desordeiros maltrapilhos recrutados à força ou vendidos por quaisquer cinco mil-réis pelos agentes recrutadores, batalhões de libertos desqualificados, escravos fugidos e estrangeiros de má procedência. Entre o oficialato mesmo, não se conhece um que proceda de família ilustre ou renomada, eis que nenhum aristocrata aceitará farda na família. Mas há casos extremos e, para males extremos, remédios extremos. A única maneira de evitar um destino trágico para esse rapaz desmiolado é pô-lo na farda, pois que terá seus desmandos corrigidos à força da espada de prancha no lombo ou dos carrinhos de correntes atados aos pés, que é como no Exército tratam o seu vasto contingente de rufiões e baderneiros. — Mas, o Exército, comendador? — perguntou o major Magalhães. — Não estará sendo excessivamente rigoroso com o rapaz? O ilustre amigo já pensou na Marinha, por exemplo? Existem excelentes oficiais ingleses na Marinha, a própria marujada conta com grande número de ingleses. E a disciplina também é forte, mas a Marinha, todos sabemos, não pode ser comparada ao Exército, é uma profissão enobrecedora. Mesmo os oficiais portugueses... — Meu preclaro amigo e compadre, sei bem do que lhe vai no coração, pois que se trata de um afilhado pelo qual é conhecida a estima que lhe devota o amigo e pela qual sou, como ninguém ignora, imensamente reconhecido. Mas a Marinha... — Estacou, chegou a fechar os olhos à procura da expressão correta, empalideceu um pouco, pigarreou longamente com a mão fechada sobre a boca. — Bem, sejamos francos. Pensei na Marinha, sim, mas duas causas me demoveram dessa escolha. A primeira é que vejo o engajamento desse moço não só como corretivo, mas também, quiçá principalmente, como punitivo. E vejo-o bem mais punido no Exército que na Marinha. Em segundo lugar... — Empacou outra vez, pigarreou tanto que teve um pequeno acesso de tosse, recomeçou a falar com a voz meio estrangulada. — Em segundo lugar, dir-se-ia que Patrício Macário, nos traços fisionômicos e no temperamento, terá puxado — e digo isso sem desdouro, pois sou orgulhoso de minhas raízes brasileiras, ainda que por via matrimonial — ao lado brasileiro da família de dona Teolina. Nunca tive oportunidade de contar-lhes isto, creio que nem mesmo os meus filhos sabem, mas a avó paterna de dona Teolina era praticamente uma bugre, filha de um português, um mateiro de
grande nomeada, homem de origem fidalga transformado em capitão do mato por circunstâncias que não cabe narrar aqui agora, e de uma índia, filha mais nova de um cacique, que é como chamam os bugres a seus reis e comandantes. Essa índia devia ter o sangue forte, porque atravessou gerações até Patrício Macário. O resultado é aquela aparência acaboclada, aquela pele tisnada e quem sabe aqueles modos rudes e praticamente indomáveis. A avozinha de dona Teolina, segundo me contam, era uma senhora admirável, que se converteu depois de trazida de sua tribo e levou uma vida dedicada à família e às obras pias. Mas em sua linhagem há de haver, necessariamente, muitos guerreiros selvagens, de onde imagino que Patrício Macário terá herdado esses traços a que nos referimos, no caráter e na aparência. Não desejo, portanto, correr riscos. No Exército, se recuperado pelo trabalho e pela disciplina e se não for pilhado por um conselho de guerra a meio caminho, o moço pode galgar posições que denigram menos a sua origem. Na Marinha, ele não preenche os requisitos físicos do oficialato, não creio, honestamente, que passasse, mesmo granjeando méritos, de tenente, ou como lá chamem a mais alta entre suas baixas patentes. Não, não, o moço vai para a Escola Militar. — Na Escola Central também se preparam jovens para o Exército. — Vai para a Escola Militar. — Terá idade? — Isto de idade carece de importância, temos amigos suficientes para resolver estas questiúnculas. — A dona Teolina não se oporá? — É possível, mas a oposição feminina há de ser sempre encarada precisamente nestes termos: como oposição feminina. As mulheres, meus amigos, são coração e não cabeça e sabemos muito bem que há mais armadilhas nas blandícias do coração do que nos alvitres frios da cabeça. Dona Teolina haverá de compreender, pois, como às crianças, temos de fazer às mulheres aquilo que é para seu próprio bem e não aquilo que desejam. — Inegavelmente. — É por isso que convoquei este conselho. Sei que a decisão, embora dolorosa para um pai, é correta, mas não queria tomá-la sem a audiência dos amigos e da família. Precisamos e pluribus unum facere, corrija-me a erudição do meu caro monsenhor, se uso mal a expressão. — Ora, comendador, queria eu saber tanto latim. — Bondade do monsenhor, generosidade de amigo. Bem, por falar em generosidade, receio ter que recorrer a ela mais uma vez. Certamente os bons ofícios do Major poderão ser úteis para o engajamento do rapaz na Escola Militar. Vou mandá-lo para a Corte e sem privilégio de espécie alguma. Pagam soldo aos alunos? — Não acredito. O Exército não paga soldo nem a seus mercenários e, quando paga, é uma tal miséria que mal dá para uma refeição de seus trezentos réis por dia, é pouquíssimo. — Pois então poderá ter uma mesada pequena, algumas libras muito regradas pelo correspondente. E ao mencionar o correspondente, ocorre-me o pedido de outro favor, desta feita ao meu ilustre advogado, sócio e amigo, Dr. Noêmio Pontes. — Estou à sua disposição. — Pelo que lhe fico perenemente grato. É para encaminhar essa questão do
correspondente no Rio de Janeiro. Sei que, entre os muitos amigos que o senhor tem no Rio de Janeiro, haverá suficientes homens de responsabilidade e caráter para desempenhar essa função. — Ah, sim, naturalmente. De imediato, ocorre-me o Dr. Amarílio Veiga, talvez o Dr. Benjamim Furtado, talvez... A decisão estava tomada e ratificada, os pormenores continuaram a ser discutidos, agora tão lentamente quanto o fim de tarde chegando, Amleto recostado em sua cadeira com a expressão satisfeita, Vasco Miguel levantando-se um pouco impaciente pela hora de sair, o major Magalhães entregue a graves pensamentos com o olhar perdido janela afora, o monsenhor imaginando se seria convidado para jantar, Noêmio Pontes tomando notas de nomes e endereços, Clemente André preocupado com sua batina nova que devia chegar a qualquer momento, Bonifácio Odulfo silencioso, revoltado, humilhado, rancoroso — como odiava a maneira de viver de toda aquela gente, como tinha horror ao dinheiro do pai e tudo o que ele representava, como um dia todos se curvariam a seu gênio, como um dia aquela casa só existiria para o povo cultivar sua memória!
11
Fonte do Porrãozinho, 23 de junho de 1842.
Leléu se escondeu atrás dos dendezeiros para chorar e pensou que esta vida é doida, doida, doida. Como é possível a pessoa assistir a si mesma chorando? Não sabia, mas era o que estava acontecendo — ele se vendo com o rosto contorcido, o peito soluçando, a garganta doendo de tanto gemer estrangulada, as lágrimas descendo que nem chuva apesar da força que fazia para estancá-las, apertando as palmas das mãos contra os olhos. Talvez tivesse chorado quando era menino, mas não se lembrava, porque negrinho cativo, sem mãe nem pai nem protetor, desde cedo aprende a não chorar. E agora isso, assim sem razão, bem em cima da hora da festa, todo mundo chegando, as fogueiras acesas, as bandeirolas tremulando, o milho assando, os foguetes de lágrimas já prontos para subir para o céu, os balões embuchados e armados, a maior véspera de São João jamais vista por todas aquelas bandas, a maior festa de São João do mundo, como ele mesmo dissera no largo do Arraial, ao convidar todo o povo para comparecer à Fonte do Porrãozinho, onde, depois das folias, haveria o banho do grande santo, primo de Nosso Senhor. Quem o visse assim chorando ia até pensar que era por causa das despesas, todas por conta dele — e riu no meio do choro, achando a vida mais doida ainda. Mas depois de rir voltou a soluçar tão forte que não conseguiu ficar sentado e caminhou um pouco em direção à cabeça da fonte. Tinha que parar com aquilo, afinal era o dono da festa, estava até vestido de São João Batista para fazer palhaçada, enrolado num couro de cabra que ia dizer que era de camelo como o do santo e levando seu velho porrete de caboatã para servir de cajado. E também a festa não era para alegrar a menina, como é que se pode alegrar alguém, ainda mais uma mocinha inocente, com este chororô danado e estes uivos mais parecendo os de um cachorro largado da mãe? Encostou a mão num dendezeiro, olhou para cima e perguntou a si mesmo que recurso havia. Que recurso haveria, mesmo para um homem que tinha visto tudo da vida? Nenhum, era o que tudo indicava. Sua menininha, que, quando enrolava os bracinhos no pescoço dele para tapeá-lo, lhe trazia um calor ao coração que nunca tinha sentido e uma gratidão pela vida que nunca achara possível e um maravilhamento de cuja existência nunca suspeitara, sua menininha, que ele queria proteger de todo o mal do mundo e era o próprio rosto da alegria e da confiança, tinha sido roubada. Não o corpinho, apesar de mirrado pelo fastio que nunca mais a abandonara desde o dia em que lhe assassinaram a mãe. O corpo ainda estava lá, mesmo que o deixasse triste e às vezes sem dormir com medo de que ela ficasse doente, mesmo sem o viço que era a primeira coisa sentida na presença dela. Mas o espírito fora furtado, levado embora, desterrado para algum lugar de onde não havia meio de recuperá-lo. Os materiais da escola, que ele havia trazido em grandes pacotes separados e enfeitados, para ela passar a noite se divertindo em abri-los e arrumá-los, ainda estavam no mesmo lugar onde os deixara, aberto apenas o das lousas, de onde um dia ele tirara uma para tentar animá-la, sem que ela ao menos a olhasse. Tudo o que lhe ocorreu ele fez, até levá-la para passear na
Bahia e em qualquer cidade ou vila onde houvesse uma festa de largo, uma quermesse, uma comemoração, até pagar às mães de meninos livres para que eles lhe fizessem companhia todo o tempo, tudo, tudo ele tinha feito, mas nunca mais ouvira o riso dela, nunca mais a vira correr por ali de pés descalços fazendo algazarra, nunca mais notara qualquer brilho nos olhos dela, nunca mais escutara dela histórias de reis, príncipes, princesas e heróis, nunca mais a vira nem olhar para os livros de estampas que com tanta dificuldade procurava aqui e ali para lhe dar. Ele mesmo também vinha perdendo o interesse na vida e nos negócios, não queria saber mais de nada, era obrigado, nas muitas noites insones em que se levantava na ponta dos pés para ver se ela estava dormindo bem e respirando, a fazer discursos a si mesmo para não se abater de todo e prosseguir com a luta da vida. Nem mesmo isso conseguia agora, chorando a mais não poder apoiado no tronco espinhento do dendezeiro coberto de ervas trepadeiras, queria sua meninazinha de volta, para que queria dinheiro, para que queria qualquer coisa, se não era mais Vô Leléu, se não tinha mais nada para aprender no mundo, se fracassara na única coisa de sua vida que não encarara como trabalho mas como vida mesmo? Pela primeira vez, Nego Leléu pensou em morrer, imaginou que também precisava descansar, que a morte era uma coisa necessária e misericordiosa, que virar nada era melhor que ser o que lá fosse, pois o sofrimento nele era o de sempre, era trabalho, mas o sofrimento nela não se podia suportar, matava mais que a própria morte. Apalpou, por baixo do calção, o esporão de arraia que sem pensar tinha pegado em casa ao sair, tocou no coração com a outra mão, pensou como seria fácil pegar aquele esporão e enfiá-lo ali naquele lugar onde residia o sangue e ir embora de uma vez, talvez morto achasse o que perdera, o que jamais tivera, o que lhe foi dado por tão pouco tempo, o sossego sempre negado a quem só carregava cicatrizes no corpo e no juízo. Fechando as mãos até as unhas se enterrarem nas palmas, teve grande pena de si mesmo, vontade de ter alguém com quem se queixar, vontade de ter pai, mãe, amigos do peito, sentiu-se tão só que viu de perto a loucura, viu como seria fácil perder a razão, como era uma coisa tão simples quanto atirar-se de uma penha para a escuridão do abismo. Mas Nego Leléu se entrega? Entrega não! Sabe como é a baleia que se apelida toadeira? É o mais valente ser vivente existente, que recebe pelo flanco as arpoadas, que se vê cercado dos inimigos mais mortais que qualquer bicho pode ter, que vê o mar virado num espinheiro fatal e então, levantando o dorso como um cavalo de nobreza, sacudindo a cabeça como um combatente que não se rende, não dá ousadia de bufar, não dá ousadia de gemer, mas segura o ardor de tantos dardos lhe mordendo as costas, manda que seu sangue lhe seja fiel naquela hora e, com um arranco a que nada na Terra pode resistir, estraçalha o que lhe estiver à frente e leva barco, leva gente, leva corda, leva tudo, num carreirão de espuma e água pelos sete mares, vencendo assim quem quer que pensa que é vencido aquele que vencido não vai ser, pela força do orgulho e da resistência. Eu não sou nada, pensou Nego Leléu aos poucos se virando numa baleia toadeira, sou um negro safado que nunca ninguém quis, mas eu sou eu e não há esse trabalho que eu queria trabalhar que eu não trabalhe e esta corda eu puxo, este barco inimigo eu destruo a topetadas, neste mar eu mergulho, vamos lá, meu Leléu! E já saiu do dendezal com um riso destamanho, quase um avejão da mata, a cara molhada no esguicho gelado da fonte para combater lágrimas com lágrimas, rodando para lá e para cá, remoçado aos vinte anos que nunca soubera ter tido, com o cão mesmo, com a
macaca, com a cachorra, com a zorra, com o esprito, com a bandeirada da porra do infinito da força da ostentação da coragem do homem que não pede penico a nenhuns filhos da puta, dois Leléus, um bom e outro ruim que só a peste, uma mão agradando e outra sentando o cacete, um lado da cara rindo e o outro fazendo careta, um lado do coração despejando amor e o outro rubro de ódio, uma orelha ouvindo e a outra surda, uma perna fugindo e a outra correndo dentro, o peito estufado, a cabeça solta do pescoço cuspindo fogo, os dentes capazes de desmatar a ilha à força de mordidas, a saudade de Dafé dizendo como num batuque que ela estava ali sim, que mais vale a vida do que a morte, mais vale brigar do que se conformar, mais vale o amor que luta do que o que se abriga, mais vale a guerra santa do que a paz doente. Quem é aquele que lá vem lá longe, todo serelepe, lépido e fagueiro? Ora se não é Nego Leléu, couro de cabra muito bem curtido, cajado de caboatã muito bem cortado, sandália sapeca muito bem sentada, sorriso safado muito bem salientado, prorrompendo dos matos para festejar! E vamos, meninas, que o santo se aborrece, acorda João! Acorda, João, desce a fogueira do firmamento com tua mãe Isabel, teu pai Zacaria, teu primo dono do Céu, tua refeição de gafanhoto e mel, tua mão que limpa a própria água, teu carneirinho da inocência, acorda, João! Acorda, São João, vem cá ver tua festa, vê cá como te acendem o lume do Espírito Santo que gira pela cabeça de Jesus como as mariposas em torno da luz, chega, São João, vem vencer Salomé, que bailando mata, que bailando morre! — Que é que essa menina está fazendo aí toda jururu, se assunta não? — perguntou Nego Leléu, saracoteando ao balido da sanfonina de mestre Pautério. — São João não quer ver tristeza! Tudo isso é fome? Até ensopadinho de tatu tem, que São João foi buscar mais Luiz Tatu! Tem canjica, tem lelê, tem mungunzá, tem pamonha, tem milho cozido, tem milho assado, tem mindubim, tem fubá, tem chá de burro, tem tudo! De mãos nas costas, tocou com a ponta de um tição no pavio do rojão que trazia escondido, fingiu que se assustou com o chiado, rodopiou como quem procura o que houve atrás, se sacudiu todo, girou o braço e soltou o rojão — viva São João! Dafé, sentada junto a duas outras meninas que como ela não estavam dançando com o resto do bando folgazão, ajeitou sua guirlanda de flores e sorriu de leve, sem mostrar os dentes. Mas riu! — pensou Leléu. Eta, viva São João! Pegou a mão dela, saiu dançando e cumprimentando um, cumprimentando outro, foi para o meio de uma roda, pulando de um pé para o outro. — Muito bem, minha gente, chegou São João, quem não for compadre que se acompadre! — Oxente, gente, quem já viu São João preto dessa forma? — Foi muito sol, meu filho, han-han-han-han! — Faz um milagre, meu santinho! — Cadê a bacia? É água vilge? Deixa eu espiar! Hum! Hum! Ah-hum! Non le quero dizeu, minha filha, coisa péssima aqui dentro dessa água molhada, coisa mesmo muito da péssima! — Conta, conta, meu santinho! — Xô tirar essa pele de camelo, xô me botar à vontade. Hum-hum, coisa péssima, esse
menino! — Isso é pele de camelo, meu santinho? Na terra do meu santinho, bode se chama camelo? — Bode se chama camelo, Camelo se chama bode, Pergunta prá tua mãe Se é verdade que ela... He-he-he-he, colé a rima de bode, mô fis? — O santinho, tá escrito aí na água tudo que a Lua disse? — Tá escrito aqui na água Tudo que a Lua disse, Crusive tua familha Vivendo na barreguice! He-he-he-he, progunte que eu té digo! — Xergue nágua meu destino, santinho! — Espiando aqui na água, Vejo bem o teu destino, Que é carregar água em cesto E roê bêra de sino! — Será que é hoje que eu me caso, bom santinho? — Té digo toda a verdade: Casá non casa hoje tu, Porém, com boa vontade, Hoje arguém te come o... Piu-piu-piu, espia o passarinho pra distrair a ideia! — Anfio o faca na bananeira, pro mode saber a letra do nome da minha amada? — Enfiá possíbile é, E é possive enfiá, Só que é no fiofó De quem ousa proguntá! — Cendo vela meia-noite, pra saber se é verdadeiro o que diz meu coração? — Cenda a vela, meu menino, Para ouvir o coração Repetindo a verdade De que teu pai é ladrão. E tome lá, tome cá, tome acolá, que beleza é um barreiro pilado e durinho, sem subir poeira quando se festeja e baila! Viva Deus que é santo velho e São João que é velho santo, santo novo é engabelado até por frade safado, êta cacete, aperta a concertina, Portério, vamo lá, mô mestre? E tonque-tonque-tonque, é um, é dois, é três, pulando essa fogueira vamos compadrar de vez, êta iu-iu-iu, vemaria, aí, aí, aí, aí! Quem ficar parado me ofendeu, sicutou? Tá muito certo, quero que tu coma, quero que tu baile, quero que tu folgue, quero que tu pule, quero que tu ria, quero que tu saia sem falar mal do dono da festa, quero que tu chegue em casa coá barriga cheia de comida, ca cabeça cheia de licor, cas partes cheias de ardor, pois para ardor temos a água da Fonte do Porrãozinho, a qual foi dada a este povo pra muito bem se lavar na noite fria do ano, que é a noite do Batista, cujo foi quem alisou a cabeça do Senhor e lá no rio Jordão tornou a água sagrada, lavando nela o corpo santo que o mundo ia sujar.
Se Leléu nessa noite trabalhou? Mas como trabalhou o Nego Leléu! Como ciscou, como zarabandou, como parecia que era cinco, era seis, era vinte, como falou, como disse besteira, como se mostrou, como se manifestou, como apareceu em toda parte, como ficou a cara escrita de todos os santos festeiros, como teve uma palavra para tudo, como foi artista esse Nego Leléu! Que amor teve esse Nego Leléu por sua neta netinha netona, nessa noite em que resolveu que não deixaria que ela parasse para pensar, em que ia dar corda, tanta corda ao corpo dela que a alma não ia poder resistir e, como de fato, não é que ela também passou a dançar e a pular, saltou fogueira de mãos dadas com ele, comeu de quase tudo que havia, soltou fogos e ajudou com os balões, cada um mais bonito do que o outro, virando estrelinhas no céu do arraial? Só quem ficou mais feliz do que ela foi Leléu, que quase reza ao santo de agradecimento, por lhe ter sido devolvida sua netinha igualzinha ao que era antes — não é que existe felicidade neste mundo? E ele estava quase estourando como uma pipoca de tanta felicidade, quando, voltando com uma bilha de água da fonte para jogar nos que ficaram com medo de se banhar na fonte, encontrou-a tremendo, o queixo batendo, os olhos arregalados, os braços apertados contra as costelas, as pernas dobradas como quem queria ajoelhar-se mas não podia. Atirou a bilha para o lado, correu para ela, mas não conseguiu que falasse logo, teve quase que niná-la no colo para que, finalmente, a mão levantando-se tão devagar que parecia carregar um peso, ela apontasse para uma das fogueiras, em torno da qual quatro rapazes brancos se destacavam no meio das moças. Estavam brincando muito, um deles tocando uma espécie de cavaquinho e os outros dançando em redor do fogo. Leléu sentiu um frio apertado deslizar do peito para a boca do estômago. — São eles? — São. Chegou a dar um salto, segurando o esporão para puxá-lo com a bainha que o escondia. Mas não só Dafé quase caiu quando a soltou, como ele imediatamente raciocinou que, se os atacasse ou matasse ali, ou mesmo se aguardasse uma oportunidade logo depois da festa, com toda a certeza viriam prendê-lo, torturá-lo e enforcá-lo. — Não — disse, falando consigo mesmo. — Não vai ser assim. E, com grande carinho, pôs a pele de cabra nos ombros dela para agasalhá-la, carregou-a devagar todo o caminho de volta à casa, depois de explicar a mestre Pautério que continuasse a festa tocando com sua orquestra, porque ele tinha de ir para casa levar a neta, que ficara doente de repente. Ao chegar, acordou as duas pretas velhas que dormiam no quarto do quintal, disse-lhes que fizessem um chá para a menina e cuidassem que ficasse bem coberta e bem atendida. Enquanto as velhas iam buscar as folhas e acender o carvão, perguntou a Dafé se tinha melhorado, ela respondeu que sim, mas estava ouvindo como que estalos, zumbidos e assovios dentro da cabeça. — Isso não é nada — disse ele —, passa logo. Vou mandar Sá Benvinda cortar duas rodelinhas de batata-do-reino crua para botar aqui nas tuas fontes, por baixo do cabelo, que essa dor de cabeça passa logo. Tá com frio? — Não. — Então está bem. Olha, presta atenção no que te digo, porque é muito importante que
tu me ajude nisso, depois te conto o que é. Eu vou dizer a Benvinda e a Nonoca que vou dormir aí no quarto de junto, que qualquer coisa elas me chamem. Mas não deixe elas me chamarem, tás ouvindo? — Eu tou com sono. — Pois muito bem, pois ótimo, pois então tu vai dormir. Mas, se acordar, tu não deixa que elas me chamem, prestou atenção? Entendeu bem? — Entendi. Leléu encostou a cabeça na dela um instantinho, deu-lhe um cheiro no rosto, ajeitou as cobertas e saiu para dizer às velhas que tinha bebido muito licor, estava cheio de sono e ia dormir no quarto pequeno. — Mas, qualquer coisa, me chamem, hem? Se ela pedir que me chamem, cês me chamam, hem? — Vai precisar não Sô Leléu, chazinho de melissa resolve isso, daqui a pouco ela tá boa. Isso é estôngamo. — Tá certo, então se despachem com esse chá, que ela já quase-quase que está dormindo. E botem umas rodelinhas de batata crua nas fontes dela, pra chupar a dor de cabeça. — Podexá, vá dormir descansado, nós cuida, podexá. — Bom, ’ntão boa noite. Entrou no quarto pequeno carregando um fifó de alça, encostou o lume nos quatro pavios da aranha de ferro pendurada do teto e foi remexer nos guardados. Vestiu um calção e um camisu, meteu na cabeça um chapéu de palha, enrolou na cintura um boldrié de couro largo que fazia ponta do lado esquerdo para embainhar a peixeira, experimentou o fio da faca com o polegar e a meteu de volta na bainha, viu que o esporão também estava no lugar, pegou do porrete, olhou em volta para ver se não tinha esquecido alguma coisa, acachapou com dois tapas o chapéu no cocuruto, abafou os fogos da aranha, cobriu-se com uma manta de pano preto e pulou para fora, saindo quase às carreiras de volta ao Porrãozinho. Resolvera tudo tão rápido que nem pensara direito no que ia fazer e, escondido de novo no dendezal, mas desta vez não para chorar e sim para ficar de olho nos quatro brancos, perguntou a si mesmo se tinha certeza de que queria matar aqueles homens. Já muitas vezes tinha pensado em matar gente, certa feita chegara a furar o braço de um, mas sempre achara que o melhor era resolver as coisas de outra maneira, matar só em caso de necessidade verdadeira. Como agora, como agora! Será que é isso o que se chama de ódio mortal? Deve ser, porque se sentiu cheio de peçonha contra aqueles que roubaram a alma de sua menina, lhe tiraram a alegria e a vontade de viver, encerraram a festa que ia ser salvadora somente por aparecerem lá, tinham tanta arrogância que voltaram ao lugar onde tinham assassinado Vevé, porque sabiam que nada lhes podia acontecer, não acontecia nada a branco que matasse preto. E deviam estar pensando em fazer mal a outras pretas, as que não fossem descaradas ou medrosas o suficiente para atender a tudo o que eles quisessem. — Bem — pensou Leléu —, elas podem ser gado, essa negralhada toda pode ser gado, esse pode até ser o regime do mundo, mas desta vez o regime é meu.
Já era quase madrugada quando os rapazes saíram de uma capoeira na companhia de algumas pretinhas, todos os quatro cambaleando e rindo alto. Leléu se aprumou, ficou atentando na direção que tomariam, porque o barco deles tanto podia estar amarrado na ilha dos Porcos quanto no porto do Baiacu. Demoraram mais do que qualquer um suportaria esperar naquela situação e ele quase se atira em cima deles de qualquer maneira, não se aguentando mais de impaciência, mas finalmente eles deixaram as mulheres, que tinham de ficar para pegar o eito logo de manhã, e saíram devagar, indo e vindo sem pressa pela trilha que levava com certeza à ilha dos Porcos. Leléu arrodeou por trás do dendezal, se embrenhou pelo mato fechado para passar-lhes à frente e, quando eles chegaram, já estava malocado perto da embarcação, esperando alguma coisa acontecer, para que pudesse saber como agiria. Barco de branco, aquele, todo pintadinho, palamenta nova, casco burnido, desenho afilado — será que tinha tripulação? Leléu se afligiu, porque, se houvesse tripulação, como era que ele ia fazer? Quase se esquecendo de respirar, esticou o pescoço por cima do saveirinho atrás do qual se escondera, viu com alívio que não havia mais ninguém no barco. Agora tinha somente de esperar que resolvessem a discussão em que já chegaram envolvidos, pois dois deles queriam aproveitar a maré para zarpar naquela hora mesmo e os dois outros achavam melhor dormir e partir de manhã. Cruzou os dedos pedindo sorte pela primeira vez na vida. Melhor que fossem dormir ali mesmo, bêbados como estavam, porque tudo seria mais fácil, não haveria problema em imaginar um jeito de dar cabo deles. Mas um deles, de barba crescida e aparência de mais velho, acabou por impor sua vontade. Iriam imediatamente, já era sextafeira, tinham saído para voltar no mesmo dia dizendo que foram a uma pescaria, quem estivesse com sono que fosse dormindo no barco, ele içaria o velame e cuidaria do leme. Leléu cuspiu de lado — merda! E agora? Talvez nunca mais os visse, talvez fosse a última oportunidade de ter sua vingança, será que não seria melhor cair em cima deles agora mesmo? Alisou o porrete, pôs a mão no cabo da faca, contraiu o corpo todo. Agora ou nunca! Com cuidado para não fazer barulho ao caminhar pela beira d’água, começou a contornar o saveirinho muito devagar, sem saber ainda como iria agir. Não se importava com a ideia de vir a ser ferido ou morrer também, mas se angustiava em pensar que algum deles podia escapar. Bem, será a sorte, o destino. Mas, se algum deles escapasse, não procurariam Dafé para maltratá-la ou matá-la também? Decerto que procurariam. E ele podia desamparar a menina? Não podia. Parou numa agonia enorme — e agora, e agora, e agora? Ia ter de desistir, havendo chegado tão perto? Como é que não aparece uma ideia, como é que tudo se perde desta forma besta? Espiou por cima da borda do saveirinho outra vez, eles estavam embarcando. Iam pegar a barrinha, contra a maré que ainda vinha de enchente, iam bordejar a ilha rente à praia, pegar o canal e certamente tomar vento de popa para a Bahia. Desgraçados! Leléu se preparou novamente para atacar às cegas, deu dois passos e... Não! Não! Mas é claro, é mais que claro, coisa mais clara não pode haver! Não iam passar pertinho da praia e do apicum? Deixe comigo! Fazendo um grande esforço para não permitir que a ansiedade o fizesse apressar-se e levantar barulho numa hora em que até um suspiro alto se ouviria, ficou quase de quatro e, tão lentamente que lhe doeram os músculos da perna e da barriga, conseguiu ir com água até o joelho para a quebrada da praia que o ocultaria de qualquer visão do outro lado e, lá
chegando, disparou feito maluco pelo apicum abaixo, na direção do porto do Baiacu, por onde eles teriam que passar. Desgraçados, tomara que a cachaça pegue mais as cabeças deles do que já pegou, tomara que demorem bastante, demorem muito para içar as velas e manobrar pela barrinha! Correndo com os bofes se esguelando boca afora, só o pensamento da necessidade de trabalhar direito conservando a vontade de correr e dando força a pernas que queriam desabar e a um coração que não tinha mais para onde bater, avistou de longe a enseada do Baiacu, as canoinhas de pescadores encalhadas como uma fileira de peixes escuros, já começando a se soltar da lama pela força da subida da maré. Passou rente à horta do velho Perelepe, na parte que tinha sido cercada para fazer chiqueiro, encostou-se nos mourões frouxelengos e, sem saber direito por quê, sem tempo de pensar e se sentindo tonto da falta de ar, encostou o ombro na cerca, abriu um rombo, pulou por cima de uma ruma de bacorinhos, tropeçou na porca, empurrou quase caindo a porta do telheiro e apanhou um enxadão enferrujado que sempre estava encostado ali. Achou-o até mais leve do que pensara, juntou-o ao porrete sobre o ombro esquerdo, continuou a correr para as canoas. Escolheu uma das menores, embarcou nela o enxadão e o porrete, foi às amarrações vizinhas, cortou mais de dez, imaginando que muitas das canoas se perderiam na correnteza. Voltou à que tinha escolhido, saltou para bordo, começou a remar para fora. Estava até esperando havia bastante tempo, com a poita arriada à saída da barrinha, quando a vela do barco dos brancos apontou por trás das gaiteiras mais altas. Escondeu a manta preta no buraco da popa, pegou o enxadão e, com dois golpes fortes da ponta picareta, abriu um buraco no fundo da canoa, que começou a fazer água devagar. Arrumou seus trens junto aos pés, esperou que estivesse à vista dos brancos e começou a abanar os braços e a gritar como um náufrago desesperado, um náufrago trôpego e frágil, pois resolveu aparentar ser bem idoso. O barco se aproximou da canoa, dois dos rapazes o viram, um deles manobrou para perto. Jogaram uma corda, baixaram a escadinha, ele subiu, levando até mesmo o enxadão para o barco, enquanto a canoa adernava. — Mas para que esse velho quer essa picareta? — disse um deles, meio divertido, meio irritado. — Se eu ficar sem esta, não posso comprar outra, Ioiô — respondeu Leléu com a voz trêmula. — Agora então, que eu perdi a canoa, só vou poder contar com isto pra poder mariscar um cernambizinho. Beijou as mãos dos dois, curvou-se em mesuras, rendeu graças aos Céus por atender as preces de um pobre preto velho e mandar-lhe a salvação por intermédio daqueles quatro arcanjos, não sabia o que fazer ou dizer para mostrar gratidão. O homem que reclamara do enxadão mandou que ele calasse a boca, perguntou se sabia pilotar um barco daqueles, era a mesma coisa que um saveiro. Leléu respondeu que sim, naturalmente, aquilo era coisa que fazia desde a infância, sempre fora navegador e pescador. Eles queriam dormir, era? Estava se vendo — he-he-he! — que os ioiozinhos haviam ido bem à uca, razão tinham eles, a mocidade é uma só e da vida só se leva a vida que a gente leva — ih-ih-ih! Mas tem uma hora em que o corpo só pede descanso, é ou não é? É assim que a gente fica pronta para outra, é descansando e se alimentando bem. Podiam deixar, não era para a Bahia que estavam indo?
Pois ele serviria de piloto, era o mínimo que podia fazer como prova de gratidão, lá na Bahia daria um jeito de voltar, essas coisas sempre se arranjam. O vento soprava fraquinho, Leléu manobrou o barco na direção do canal. A maré, ainda bem baixa, fazia com que passassem rente à praia a boreste e, a bombordo, junto à coroa quase toda descoberta, as marcas das ondas na areia meandrando até onde a vista alcançava à luz da lua. Olhou para os quatro, todos roncavam, dois à proa, um à meia-nau e o outro ali pertinho dele, se esticasse muito o braço poderia tocá-lo. Amarrou a cana do leme, levantouse, viu que o barco embicava na direção certa e sacou a peixeira. Com muito mais facilidade do que havia antecipado, inclusive porque todos eles dormiam de cara para cima com as gargantas expostas, foi de um em um e, num só golpe para cada, cortou-lhes os pescoços sem fazer barulho. Em seguida desceu ao fundo do barco e cavou um buraco na madeira de mais ou menos meio palmo de diâmetro, por onde a água começou a entrar. Deixou de lado o enxadão, pegou o porrete, lavou a faca na água, cortou a corda da carangueja da vela grande despencando-a de uma vez, olhou em torno e mergulhou no mar, bem no instante em que o barco começava a passar pela parte mais funda do canal. Nadou a pequena distância até a praia, ficou olhando o barco, que cada vez mais depressa ia descendo para o fundo do canal, onde, tinha certeza, jamais o achariam — como jamais acharam nenhum dos outros que afundaram ali, na lama espessa, quarenta braças abaixo daquela água lisa como uma lâmina. Examinou o céu, viu que daí a pouco ia amanhecer, era hora de se apressar para voltar ao Outeiro, antes que as velhas descobrissem que ele não estava lá dormindo.
Ponta das Baleias, 3 de novembro de 1846.
Enquanto tomava banho de cuia na porta da cadeia que dava para o quintal, o carcereiro Manoel Joaquim, velho, sem dentes, bigode cobrindo a boca e um culhão rendido de filariose do tamanho de uma abóbora em que batia para sublinhar um ponto ou outro, fazia um discurso. Exaltava-se contra a falta de ordem que hoje em dia impera e contra o baixo quilate dos homens públicos, os quais nem chegam aos pés dos de antanho, aqueles, sim, a quem fazia gosto servir, não esses fidalgotes de agora, esses comerciantezinhos cada vez mais atrevidos e esses negros atuais, a que só falta quererem ser chamados de senhor. Com dificuldade, por causa do grande volume entre as pernas, andou nu e molhado como estava até a cela de Budião, que fora acorrentado de pés e mãos à parede e não tinha podido sentar-se desde o dia em que o puseram ali. O velho o olhou com desprezo, pigarreou e cuspiu. — Um negro safado como tu, tomando ousadia, falsificando papel, fugindo do senhor em abuso de confiança, um negro safado como tu não estava aí agora, comendo duas vezes por dia do bom e do melhor e no conforto de uma celazinha quente e seca, como muitos pobres honestos não têm em casa. Estava era no tronco, na chibata, que era para esquentar o lombo e aprender! Voltou ao quintal, começou a enxugar-se com um pano imundo. Ainda meio molhado,
pôs as calças frouxas que era obrigado a usar por causa da doença, vestiu a camisa e pendurou a casaca num cabide de parede. — Muito bem — disse. — Tua sorte acabou. Não é mais nem domingo nem dia santo e vem cá o senhor capitão Teófilo, teu legítimo senhor, para reconhecer-te e dispor de ti. Não creio que escapes sem uma boa tunda ou até coisa pior, coisa bem pior. O senhor capitão Teófilo é homem muito bom, bom demais até, mas não vai deixar uma coisa como esta passar em brancas nuvens, é preciso dar o exemplo. Foi até uma barrica de água, encheu um balde, jogou a água em cima de Budião. — Dois ou três dias aí e já fedes a uma matilha de cães sarnentos. Acredito que a África há de ser a terra mais fedorenta que existe, com tua raça a empesteá-la. — Jogou mais uns baldes d’água, queixou-se de que os sinos da igreja muitas vezes não batiam nas horas certas, reclamou de não ter verbas nem assistentes e ser obrigado a cuidar de negros fugidos. — Antes fosse porqueiro! Aqui não temos nem as ferramentas mais comezinhas numa cadeia pública, não temos nada. Para não dizer que não temos nada, temos isto! Ergueu uma enorme palmatória de madeira escura, os cinco furos dispostos em cruz como de costume, um lado liso, outro esculpido em pequenas saliências, parecidas com preguinhos rombudos. — E temos isto! — continuou, os olhos faiscando, e mostrou uma chibata de couro terminada em pontas trançadas. — Mas isto se consegue com qualquer muleiro, como, aliás, eu mesmo. Estás vendo estas manchas escuras aqui? São de sangue, do sangue de um negro safado como tu. Saiu daqui para o cemitério, revezaram-se quatro em castigá-lo. Era forte, tinha o corpo massudo assim como o teu. Parecia que encontrava dificuldade em parar de falar e de se mexer. Como não havia nada para fazer, sentava-se e levantava-se, ajeitava uma gaiola de passarinho, sentava outra vez, retornava à gaiola, espanava a casaca com as pontas dos dedos e se movimentava sem cessar, enquanto rememorava em voz muito alta os tempos melhores que tinha vivido, os tempos do respeito e da severidade. Budião, tonto e às vezes desfalecendo para acordar com os ombros e braços em fogo, já não sentia as pernas havia muito, já não movia os olhos e a cabeça com facilidade, já não compreendia direito o que lhe falavam, já nem mesmo sentia muita dor, a não ser na cabeça, que parecia estar sendo repuxada de todos os lados por garras amoladas. Não viu quando Manoel Joaquim sumiu do corredor para onde davam as quatro celas e foi abrir a porta da frente, para deixar entrar o capitão Teófilo, os três soldados que fizeram a prisão e o chefe do Destacamento, cabo Lourenço Frota. — Está morto? — perguntou cabo Lourenço diante de Budião, depois que Manoel Joaquim abriu a cela para que entrassem. — Morto nada, seu cabo. Isso tá é fingindo. O cabo não se convenceu, levantou uma das pálpebras de Budião, que estavam fechadas, deu-lhe dois tapas no rosto, um pontapé de leve na canela. — Não se mexe. Há quanto tempo ele está aí? — Desde que chegou. Mas tem comido. A corrente do braço é calculada para ele poder segurar o prato e comer, eu mesmo calculei. Ontem comeu feijão com pé de porco,
comeu tudo. Hoje foi que ainda não comeu, também ainda é cedo. Hoje, eu... — Solte ele, desamarre. — Não é melhor chamar os milicianos, não? É um negro forte, pode ter alguma reação. — Solta, homem, está se vendo que ele está fraco. Tem café aí, alguma bebida forte? — Café? Quisera eu ter café, há quanto tempo que não vejo café! Que pensa Vossa Senhoria, com a meia pataca que me dão por dia, quando me dão, esperam que me trate a pão de ló e dê aos presos café, que hoje custa uma fortuna? — Cala a boca, velho, solta o preto! Sentaram Budião numa cadeira de espaldar largo e espigado.Como ele deslizava no assento, tiveram que suspendê-lo e prendê-lo às costas da cadeira quase pelos sovacos. O cabo ordenou que Manoel Joaquim fizesse uma salmoura de água fria do sereno e a derramasse sobre a cabeça do preto, molhando-o todo. Depois, mandou que trouxessem cachaça, apertou as bochechas de Budião até que ele abriu os lábios, despejou meio copo lá dentro, fechou-lhe a boca com um safanão no queixo. Budião estremeceu. — Está vivo — disse o cabo. — Anda lá, negro, que tens a dizer? — Pues entonces — disse Budião. — Bamos a sacarlos todos de ajá. — Que foi que ele falou? — Uma espécie de língua africana. Ele não é ladino? — En marche-marche! — disse Budião levantando o pescoço, e o cabo lhe deu uma bofetada. — Escuta aqui, negro ousado, eu sei que tu é ladino, que tu fala perfeitamente língua de gente, procura te assuntar, não vem com presepada, que te quebro todo! Budião abriu os olhos, deu com o capitão Teófilo, quase sorriu. — Capitão Teófilo! — falou. — Senhor capitán Teófilo, que beo? Bolbi de la Guerra Farropija, capitán! Lebamos el comandante Bento Gonçalbes como nós ordenó el capitán Teófilo! E a Probíncia... O capitão Teófilo empalideceu. — Que guerra é essa? — perguntou o cabo. — Ele não falou numa guerra? — Deve ser delírio, não sei que guerra é essa, não sei quem é esse comandante. — Eu sei, o comandante Bento Gonçalves, esteve aqui preso no Forte de São Marcelo, um galego safado, sedicioso, eu estava na guarnição do Forte quando ele fugiu, faz mais de uns oito anos, mais do que isso. — Não sei, não me lembro. — Ah, esse preto sabe de coisas. Mané Joaquim, cadê os papéis que ele apresentou? — Tão na gaveta, na gaveta lá de dentro. Tranquei tudo, porque fico com medo dessa papelada. Aqui não vem ninguém, não vem escrivão, não vem autoridade, fico eu com esses papéis sem saber o que fazer com eles. Vossa Senhoria não quer levar todos logo, não? — Não, Manoel Joaquim, quero os papéis que ele andou apresentando aí. Vá buscar os papéis, pare de muita conversa! Capitão Teófilo começou a andar pela sala, com as mãos nas costas. O cabo acreditava que aquele seu preto fugido sabia realmente de coisas importantes? — Com toda a certeza. Tenho para mim que é hoje que descobrimos como se deu essa tal fuga do galego.
— Crê que falará? — Isso depende. Mas, se o ponho ao garrote, ou fala ou termina por morrer. Isto, porém, depende de Vossa Excelência, é preto seu. O capitão não respondeu logo, precisava ponderar muito o que ia dizer. Se o escravo dele tinha informações importantes, não podia, sem despertar suspeitas ou mesmo má vontade, deixar de permitir que o interrogassem pelos meios costumeiros. Mas também, se em vez de morrer falasse, não o incriminaria irreparavelmente? E ainda estava pensando no que fazer, quando Manoel Joaquim voltou com os papéis. — Deixa-me vê-los — apressou-se o capitão, para antecipar-se ao cabo. — Faustino, é isso mesmo. Faustino... Mas não pôde concluir, porque uma explosão violenta, seguida de duas menos fortes, pareceu abalar toda a Terra. Uma prateleira da cozinha desabou, a moringa de Manoel Joaquim rolou pela mesa e caiu no chão espatifando-se, a porta do corredor se abriu estrepitosamente, um bafo de ar morno chegou até eles. Lá fora, um rolo de fumaça preta, vindo da direção da Fortaleza de São Lourenço, principiou a envolver as árvores e os topos das casas. — Jesus, Nossa Senhora! É a fortaleza! Está havendo um levante! Esqueceram lá dentro Manoel Joaquim e o preso, atiraram-se porta afora atropeladamente e, no meio da correria e da confusão que já se formara, entre gritos de mulheres, choro de crianças e berreiro dos homens, viram que realmente a fumaça vinha da fortaleza, não só de suas próprias paredes, como de trás delas, dando a impressão de que o próprio mar estava em chamas. — A fortaleza arde! — Fomos atacados! — É um levante, é um levante da tropa! Passarão todos ao clavinote, é um levante! — Cabo Lourenço, o senhor tem que conter os amotinados! — Mulheres para as casas, mulheres para as casas, tranquem-se nas casas e não abram a porta para ninguém! — A guarnição, onde está a guarnição? Às armas! Às armas! — Capitão Teófilo! A Guarda Nacional! A Guarda Nacional! — Em nome de Sua Majestade Imperial! Pela ordem, em nome de Sua Majestade! — Já disseram que não deixarão vivo nenhum que não passe à causa deles e não lhes pague tributo! É o fio da espada para todos, ai meu Deus! — Os baldes! Acudam ao forte, acudam ao forte! Somente muitas horas depois é que se descobriu, entre recriminações, mal-entendidos, desaforos e uma confusão que veio a durar meses, que não houvera motim, não houvera invasão, não houvera luta — não se sabia bem, aliás, o que houvera. Ninguém estava na fortaleza àquela hora, a não ser o faxineiro Preto Máximo, varrendo as folhas da entrada. E Preto Máximo não tinha muito para contar: havia ficado ainda mais surdo depois daqueles três baques que bufaram da parede norte e daquela fumaceira que quase o mata; pareceu um barril de pólvora papocando, um barril, mais dois barriletes, depois fumaça de breu com borra queimando; e, de repente, lá estava a água do mar em chamas, coisa que, felizmente, muitos
outros também viram, para não o terem na conta de mentiroso, mesmo porque depois se descobriu que era óleo e alcatrão, a que atearam fogo depois de despejá-los na maré. Alguns afirmaram também que, por trás do fogo, bem recortado contra a ilha dos Frades, fundeara um briguezinho com as velas arvoradas, o qual zarpou como um corisco, aí uns três quartos de hora após as explosões. E se soube também que, ao voltarem à cadeia, o capitão e o cabo não mais encontraram Budião. Encontraram, abandonadas, as ferramentas que os resgatadores iam usar para soltá-lo das correntes, mas não precisaram. E encontraram também Manoel Joaquim, preso ao mesmo lugar em que fora acorrentado Budião, só que uma das grilhetas, em vez de passada no tornozelo, estava apertada em torno do pé do ovo rendido. Cego de dor e se maldizendo muito, Manoel Joaquim, para crença de alguns e descrença de outros, testemunhou que foram pelo menos cinco os que libertaram o preto. Entre eles havia uma mulher jovem, alta e fortíssima, a quem os outros chamavam de Maria da Fé.
Salvador da Bahia, 5 de abril de 1863.
Que susto! Entre as folhinhas de cidreira apanhadas pelo coador de prata, uma estava embolada e empretecida, idêntica a uma mosca morta. Amleto arrepiou-se. Antes de gritar encolerizado, como já pretendia, resolveu examinar o objeto mais de perto, apesar da repugnância que lhe causava e dos engulhos que teria se fosse realmente uma mosca. Levantou o coador na direção da claridade da janela, apertou as lunetas no nariz, futucou a folhazinha com a ponta do cabo de uma colher. Desgraça, nem de óculos enxergava direito agora. Mas a textura era com certeza de mosca, era efetivamente uma mosca, estava quase seguro. — Joviniana! Joviniana! Joviniana! Nega Juvi, o torso despencando, os olhos esbugalhados, o avental torto, o corpo gordão parecendo mais largo que alto, entrou aflita na sala. Conhecia a regra estabelecida pelo comendador, segundo a qual a um negro só se chama uma vez, não se dá ousadia de chamar duas vezes. Logo, alguma coisa de muito séria havia acontecido, se bem que, depois da morte de Iaiá Teolina, Ioiô Amleto viesse ficando cada vez pior dos nervos, sem comer quase nada e com as manias mais esquisitas. Viu o coador na mão que ele levantava acima da cabeça, trêmulo de raiva, adivinhou que era coisa da mania das moscas, a mais terrível de todas, que alongava qualquer refeição insuportavelmente, enquanto ele escarafunchava cada colherada, entre sobressaltos dos presentes toda vez que esmurrava a mesa, pensando ter encontrado uma mosca. Punha dois negros de plantão à beira da mesa para espantar as moscas com ventarolas de penas, ordenava que queimassem cânfora por todos os cantos da casa, exigia um galho de pinhão-roxo e um ramalhete de crisântemos em cada jarro, fazia rondas pela cozinha e pela copa para ver se não tinham guardado qualquer alimento descoberto e, mesmo assim, estivesse comendo ou bebendo, tinha de raspar a língua nos dentes para evitar engolir alguma mosca por engano. Isto lhe tornava as refeições muito penosas, não só porque demoradas como porque cheias de ansiedade e de crises de melancolia pós-prandial, quando, apesar das precauções, ardia em receios de estar a digerir moscas inadvertidamente
consumidas. E disto também lhe vinha a aparência bicuda que a cada dia se acentuava em suas feições, pois, para não mostrar a língua enquanto a esfregava nos dentes para frente e para trás, era obrigado a conter-lhe o avanço com os lábios cerrados, a língua lhe estufando a boca e as bochechas como se fosse um animal vivo aprisionado lá dentro. — Que foi, Ioiô? — Isto! É isto! Isto é uma mosca! Uma mosca no meu chá! Nega Juvi curvou-se, estendeu a mão. — Dá licença, Ioiô? Pegou o coador, franziu os olhos, revolveu a folha com o dedo mindinho, sorriu. — Não é, não, Ioiô, é uma folhinha enrolada. — Tens certeza, negra? Olha bem, isto me pareceu perfeitamente uma mosca! E, se é uma mosca, sei de muita gente que vai passar a chá de mosca, sopa de mosca e moqueca de mosca o resto da vida! — Não é, não, Ioiô, é uma folha, o senhor olhe aqui. Desenrolou a folha, esticou-a com cuidado diante dele. Ele chegou as lunetas para mais perto dos olhos, demorou fitando a folha, terminou se derreando aliviado na cadeira. — Não é mosca — disse sorrindo. — Não é, com efeito, não é. Bem, leva esta bandeja. — Mas Ioiô não vai tomar o chá? — Não. Não, não vou. — Mas o chá está como Ioiô gosta, Ioiô não comeu nada de manhã cedo, está em jejum até agora, o chazinho... — Não, não. Leva. — Ioiô não quer chá preto, em vez de cidreira? — Leva este chá, Joviniana! Se disseres mais uma palavra, faço a ti como fiz ao negro Fidúcio: mando meter-te um ovo quente na boca para curar o teu desplante! Leva! Como beber chá, beber qualquer coisa, comer qualquer coisa, com o pensamento da mosca a lhe dar ganas de vômito? De fato uma vez, pouco depois da morte de Teolina, ele quase engolira uma mosca. Contraiu o corpo todo de asco ao lembrar como acontecera, mas não pôde evitar rememorar perversamente todos os detalhes. Estava distraído lendo a gazeta, e nem prestou atenção ao cálice de vinho do Porto que levou à boca. Sorvido um gole, sentiu na língua aquele volumezinho esponjoso, como se fosse uma passa ou bagaço de uva. Mas logo esse volumezinho tremelicou sobre a língua e ele, com uma náusea indescritível, cuspiu a mosca ainda viva e vomitou na alcatifa até desmaiar de fraqueza. Apertou o estômago, sacudiu a cabeça com energia, para espantar os pensamentos desagradáveis. Esfregou a língua nos dentes, inspecionou-a no espelhinho do porta-chapéus. Sim, desde aquela época, a ideia de que pudesse haver uma mosca em sua comida tanto o inquietava que quase não comia mais. Emagrecera muito, os cabelos agora, ainda submetidos todos os dias à touca e à babosa, lhe escorriam pelos lados da cabeça escaveirada, acentuando as maçãs do rosto protuberantes e as bochechas cavadas. No começo sentia-se bem, mas aos poucos ficava cada vez mais fraco, o tronco contabescido, as pernas finas sem resistência, as mãos translúcidas e definhadas. Mas não lhe desagradava de todo essa astenia, às vezes muito suave e aliciadora, como quando lhe vinha uma embriaguez deliciosa,
acompanhada frequentemente de rápidas visões de cores, depois, por exemplo, de conseguir tomar um cafezinho com muito açúcar ao amanhecer. E a preferia, certamente, à possibilidade de ingerir moscas, ameaça que nem a mais estrita vigilância podia estar segura de contornar inteiramente. Mas eram só as moscas? Achava que sim, mas, de tanto dar a entender a todos que não comia de desgosto pela morte da mulher, também não deixava de lado esta hipótese. Pobre Teolina! Sempre quieta, sempre disposta ao trabalho e à solidariedade, sempre de um comportamento exemplar para uma dama. Não morrera da bicha durante a epidemia, embora tivesse tido a doença, a terrível febre amarela que diversas vezes matara milhares. Ou talvez não tivesse realmente tido a doença, pois, no auge da febre, não expelira as lombrigas causadoras do mal, como as outras vítimas. Mas sua saúde nunca mais fora a mesma, sempre uma febre, uma dor, um achaque, tudo agravado pela ausência de Patrício Macário, que a atingira mais fundo do que ele havia imaginado. Já no leito de agonia, rezava um terço atrás do outro, implorando aos santos que, como nas histórias que todas as famílias contavam, lhe concedessem a graça de ainda ver seu filhinho mais novo antes de expirar. Mas isso não aconteceu, porque Patrício Macário não conseguiu embarcar a tempo para a Bahia e já encontrou a mãe sepultada. Sim, talvez fosse também por causa de Teolina. E ela fazia falta, fazia falta de mil formas que antes não ocorriam a ele, tanto assim que era sincero o choro que, durante muitos meses, ele escondia pelos cantos do gabinete, quando lembrava dela. Viúvo, sim, viúvo, nunca imaginara em que vazio se fica depois da viuvez, nunca imaginara como a vida fica sem jeito, como os hábitos se transtornam, pessoas e coisas adquirem novas aparências. Mas a viuvez era principalmente o vazio, o grande vazio que lhe tornava as tardes infindáveis e o fazia socar-se no escritório do Comércio até altas horas. Viúvo e rico. Pensara no início que, com discrição e engenho, não lhe seria difícil viver uma aventura galante ou outra, armar as coisas de forma que pudesse finalmente conhecer as mulheres. E não foi difícil, só que cedo perdeu o gosto por essa atividade, que lhe saía sempre mais custosa que divertida. Ainda se encontrara algumas vezes com uma atriz francesa, mas aquela que vira brilhar no palco com tanta beleza e graça era na verdade bastante mais velha do que parecera, e sua convivência coalhada de manhas, amuos e dengues o enervava, de maneira que lhe mandou um falso billet doux em que protestava eterno afeto e gratidão, mas, por motivos do mais profundo foro íntimo que melhor seria nunca desvendar, não queria, não podia mais vê-la. Sim, talvez fosse por causa da morte de Teolina. Porque, afinal, tirante isto, forçoso reconhecer que era um homem feliz. Como fazia muitas vezes, recostou-se, tirou as lunetas e se preparou para pronunciar nova conferência mental a si mesmo, sobre como era feliz e, portanto, tinha que ficar feliz. Os negócios agora o tornavam, com certeza, um dos homens mais ricos da Província, talvez do País, principalmente depois que empregou na lavra de diamantes verbas de auxílio obtidas por suas propriedades em regiões de seca. Fez força para lembrar-se de tudo o que possuía, como antigamente, mas não conseguiu, era demais para sua memória cansada. Praticamente não havia ninguém que não lhe devesse ou não lhe comprasse alguma coisa, direta ou indiretamente. Até mesmo os negros, a quem, para mostrar a coerência
de suas posições, vinha libertando na medida do possível, pagavam, em prestações acrescidas de pequenos juros, seus títulos de alforria. E justiça fosse feita, quase não tocava nesse dinheiro, cuja maior parte destinava a uma de suas muitas iniciativas no campo da cultura e dos problemas sociais, no caso o Fundo de Estudos Abolicionistas. Então não era feliz? Seu filho mais velho chegara rapidamente a monsenhor como se previra, entregava-se de corpo e alma à educação dos jovens, tanto no orfanato das Obras Pias quanto no colégio pago que com grande tenacidade e persistência conseguira fundar, mantendo já mais de trezentos alunos, somente no regime de internato. Bonifácio Odulfo, chegando aos trinta anos, ainda o preocupava, mas não tanto quanto antes. Se não fossem as despesas que lhe dava com a publicação de seus livros, cada um dos quais ostentava no frontispício o nome de uma casa editora diferente, ditado pela fantasia do poeta, até que não lhe causaria o menor dissabor. Já estava acostumado a que, como ele mesmo dizia, passasse meses sem ver o sol, não tinham mais conflitos e se tratavam até com algum carinho, nas pouquíssimas vezes em que se viam. O poeta tinha seu círculo de admiradores, a julgar por algumas notas de jornais e panfletos, numa das quais houve quem declarasse o poema Haroldo e Dandalê um clássico da língua, com personagens dignos de repousar na estante universal ao lado de Dido e Enéas, Helena e Páris, Ulisses e Penélope. Não o substituiria jamais à frente dos negócios, mas o Dr. Vasco Miguel, ainda que escabichador e lento como um cágado escrupuloso, demonstrava, senão talento, pelo menos uma mediocridade sólida, tão preciosa no mundo dos negócios, tão mais desejável em muitos casos do que a inteligência ou a originalidade. Genro melhor, pensando bem, não podia ter obtido e, quando olhava para a figura rechonchuda e plácida de Carlota Borromeia, sabia que a família estaria bem em quaisquer circunstâncias. E Patrício Macário — que milagre! O preparo militar, a dura sujeição aos vinte e nove rigidíssimos artigos de guerra do conde de Lippe, que Amleto aprendera a conhecer e admirar através do filho, a vida da caserna e a disciplina, como tudo isso fizera bem ao caráter do rapaz! Encontrara, sem dúvida alguma, sua vocação. Ainda moço, seu comportamento brioso nas hostilidades do Prata — onde, dizia ele jocosamente, cada um dos brasileiros tinha como ponto de honra matar pelo menos um gringo por dia — lhe havia granjeado o respeito de seus comandantes e sua rápida promoção ao posto de tenente, que ocupava agora, servindo no Distrito Militar da Bahia. A farda lhe caía bem, lhe disfarçava até a mulatice, ainda mais que ele se dera ao gosto de adereços imponentes e capas de corte audacioso, de tal forma que, apenas um tenente, impunha-se como uma espécie de marechal à tropa e aos oficiais mais pobres, que eram a maioria. Sua reputação de guerreiro valente e soldado até a medula lhe acabara de valer a designação, por expresso pedido do capitão comandante, para servir como segundo oficial na companhia especial que seria destacada para liquidar a famosa bandida Maria da Fé, que continuava a semear o terror e a desordem em todo o Recôncavo e até mesmo no sertão. No dia seguinte, segunda-feira, partiria à frente de seus soldados para essa expedição, em que certamente se cobriria de glória mais uma vez. Amleto chegava a sentir orgulho dele, apesar de não haver superado de todo o embaraço de ter um filho militar, vendose compelido a dar extensas explicações, toda vez que era obrigado a tocar no assunto. Portanto, era feliz, não era? Pensou sobre se tinha alguma preocupação, alguma preocupação real. Não, não tinha. Era, por conseguinte, muito feliz. Recostou-se para melhor assimilar essa verdade e chegou a sorrir com gosto, chegou mesmo a rir alto, pensou até em
comer alguma coisa antes do almoço, que sairia tarde, bem depois das onze, por causa da presença de toda a família. Sim, comeria alguma coisa, ia pensar em algo delicado, talvez um pudim de arroz, talvez uns brioches. Que bom, não havia nada que não pudesse ordenar que lhe trouxessem, não havia nada que não estivesse ao alcance de sua mão, era um homem feliz. Não sabia, naturalmente, o que estava acontecendo, mais ou menos nessas mesmas nove horas da manhã, na casa de seu genro, Vasco Miguel. Lá, depois de chegar da missa, mandar os meninos aos desenhos e às instruções de boas maneiras com Miss Clara, a governanta e preceptora inglesa, Carlota Borromeia subiu para o salão de cima, abriu as portas das sacadas, prendeu os cortinões, pôs as mãos no balaústre e pareceu admirar os ares cristalinos que envolviam a casa de todos os lados, os campos verdes se alargando por todo o horizonte, o jardim resplandecendo em todas as cores. Foi até a escrivaninha, molhou a pena no tinteiro, mordeu-lhe o cabo longamente, revirou os olhos e, bem devagar, curvando o pescoço para o lado como um escultor que quer contemplar sua obra por todos os ângulos, escreveu algumas linhas, em letra caprichada e redonda: Pois então, pois então, pois então! Pois estão! Pois então, pois então? Pois estão? Pois então, que me perdoem, que me desculpem. Pois então! Eu descobri que, visto daqui, o jardim, O jardim e o madrigal, la-si-ré-dó! Não se interessam pela existência! Pois então! Poisentão, poisentão, poisentão, A quem me ler. Assinado, CBNFD.
Em seguida sentou-se ao piano e tocou durante mais ou menos meia hora. Levantou-se, abriu uma gaveta do aparador grande, tirou dela uma faca toda de prata, em bainha também de prata, que, segundo Amleto, havia sido herdada de um bisavô inglês. Dirigiu-se a todas as muitas estatuetas de biscuit que povoavam o salão e, pegando uma por uma sem pressa, cortou-lhes as cabeças, repondo-as em seus lugares e jogando as cabeças pela janela. Quando as negras perceberam a chuva de cabeças de biscuit caindo sobre o jardim, foram para defronte das sacadas e não souberam do que se passava, até que Carlota Borromeia apareceu lá em cima e, inicialmente sorrindo, depois com fúria, se atacou em estocadas repetidas, tombando ao chão ao trespassar-se no pescoço. Quando conseguiram arrombar a porta, já a encontraram sem vida, fazendo uma careta enigmática, dentro de uma poça de sangue de odor adocicado. Amleto foi informado disso no momento em que ia enfiar a colher no pudim de arroz. Deixou cair a colher, fechou a boca e disse a Nega Juvi, sem alterar a voz, que mandasse os negros da cocheira aprontarem a carruagem, porque ia ter com sua filha morta.
12
Arraial do Baiacu, 25 de maio de 1863.
Uma só pergunta corre de boca em boca, uma só indagação frequenta os corações pressurosos, só uma dúvida é sussurrada na ilha, da Ponta das Baleias ao Catu, da costa à contracosta, de barco em barco, de casa em casa, de botica em botica, de senzala em senzala, de plantação em plantação: será que ela virá? Mais uma vez se provará sua tremenda ousadia, que os poderosos consideram desfaçatez, mas o povinho admira? Mais uma vez enfrentará, com a prosápia que nunca a abandona, tropas e armas das autoridades? Ou deixará, desmentindo as lendas de grandes feitos que todo o povo conta, de prestar homenagem a seu avô? Ou será até que ela não existe, apesar dos testemunhos de diversos, os quais contudo podem ser simples boateiros, dos muitos que abundam entre o populacho? É noite fechada sobre a ilha, nuvens pardas e extensas, contínuas como se aplicadas a pincel, entoldam um espesso negrume, dentro do qual nada parece mexer-se. No sopé do Outeiro Grande, as janelas da casa de Nego Leléu estão abertas, são laminazinhas retangulares de luz soltas na escuridão e agitadas pelo vento morno que de vez em quando sopra, estranho para esta época do ano. E dessas janelinhas, como ondas fluindo em andamento regular, sai uma nênia ganida e tremelicosa, puxada pela voz nasal de uma velha e replicada pelas outras mulheres. Ninguém pode enganar-se sobre o que é essa cantiga: são endechas, monódias de defunto, incelenças aqui sempre cantadas nos funerais, não tanto pelas palavras, pois que nem seu sentido se conhece direito, mas pela melancolia em que banham os viventes e a paisagem, tudo convertendo à mesma tristeza chorosa. De quem será esse velório lá longe lobrigado, lamentoso e lúgubre? Ora se aquele não é Nego Leléu sorridente no caixão, mais lorde que um visconde, mais guapo que um marquês, fato preto bem passado, botas tinindo de lustro, barbinha feita a capricho, carapinha escovadinha, mãos mui limpas cruzadas sobre o peito, camisa mais que cheirosa e engomada, sem cara nenhuma de morte! Se Nego Leléu morreu? Mas claro que morreu, ou não o teriam banhado, vestido e deitado ali, para ser enterrado na manhã seguinte. Morreu no meio da soneca do meio-dia e, como estava ficando cada dia mais menino, pensou que era um sonho. Foi encontrado pelos outros meninos, com quem tinha combinado sair para brincar de pelota, empinar arraia e jogar pião. Viram logo que estava morto, mas nenhum deles se assustou, porque ele tinha a expressão divertida, talvez matreira, certamente feliz. Pois seguramente que era feliz, esse Nego Leléu, que foi tantas coisas na vida e terminou virado em menino. Não fazia tanto tempo assim que tinha ficado menino, nem aconteceu de repente. Foi aos poucos, cada dia uma novidadezinha, até que, quando se deu pela coisa, ele estava pulando e correndo no meio da meninada e não queria saber de outra ocupação senão brincar. Bem reparado, desde o tempo em que a neta morava em sua companhia, ele já estava um pouco assim. Mas houve aquilo com a mãe dela, ela ficou afetada, ele passou por muitos desgostos por causa dela e ela acabou, de um jeito que ninguém
lembra direito, sumindo no mundo, varando os matos e guerreando há mais de quinze anos, debaixo da condenação de todas as justiças e polícias. Que tinha acontecido a menina tão bem-criada, tão mimada, tão bonita, parecendo quase branca de tanto trato? Ninguém sabia, existia até quem se benzesse e falasse no demônio, pois somente o Inimigo arrastaria uma mulher a vida tão eriçada de lutas e percalços, dificílima até para um homem. Entretanto, Nego Leléu, ali sorrindo no caixão, sabia de tudo perfeitamente e, mesmo criança, nunca esqueceu que tinha sua neta e sempre se orgulhou dela, só que não podia sair por aí dizendo isso, pois até a ele não chegaram a ameaçar por causa dela, e não uma nem duas vezes? E, coitadinha, como havia sofrido depois da morte da mãe! No dia em que ele matou os quatro brancos, ela dormiu até mais tarde, ele aproveitou para ficar no quarto, tirando o sono atrasado. Já perto das oito horas, estava pronto para sair, tinha guardado peixeira, porrete e esporão, pensava em como contaria a ela o que havia acontecido, ou mesmo se devia contar, quando a escutou gemendo. Correu para junto dela, perguntou-lhe o que sentia, ela outra vez se queixou de estalidos, zumbidos e assovios dentro da cabeça. Mas como, filha, como assovios, como zumbidos? Ah, ela não sabia, só sabia que tinha essa orquestra enlouquecida dentro da cabeça. Orquestra que, daí em diante, pouco se conteve. Muitas vezes tocava baixo, raras vezes parava, outras vezes desandava sem limites, fazendo com que a menina corresse para os matos ou para o apicum, onde finalmente, depois de retorcer as mãos e mover-se como quem quisesse enfiar-se terra adentro, conseguia alívio. Leléu, sem saber mais o que fazer, contou a ela que os quatro homens tinham morrido quando o barco deles naufragara, e ela ouviu tudo sem mostrar emoção. Ele então narrou como fora ele mesmo o autor dessas mortes, enfeitou a historiação, fez caretas muito feias para contar em pormenores mentirosos a execução dos quatro. Girou para lá e para cá, pavoneou-se ao feitio de um guerreiro antigo, mostrou-lhe com o porrete como sabia manejar o sabre e a baioneta melhor que os melhores generais, disse-lhe que era capaz de derrotar exércitos, ficar invisível, atravessar paredes e voar sem asas, abraçou-a para afirmar, esmurrando e mordendo o ar com ferocidade, que nada, nada, nada, nada, nadinha de nadíssima, nadissimizíssima, podia acontecer a ela, porque Vovô era forte como oitenta e oito elefantes, brabo como cento e vinte leões e abusado como trezentos e sessenta regimentos de marimbondos. Então, munina munita, cundunga pleta do zoio verdejante, peudra pleuciosa, frô dó meu jaldim, ligria dó mô zistença, alents dó mô vivê, desgrachinha de coijuta safadosa munitinha senvergosa corderrosa butuquinha tutuquinha do biquinho solaminguento? Hum? Tu-tu-turututu? Bim-bom-bim, lam-bombém? Acumaé, cadê o sorrisinho do veio? Veio sola, sola, sola, sá menina, veio sola! Quer que veio sole? Apois lá vai — ai-currum-currum-currum-currum, ai-arrum-arrum-arrum — veio sola que vai se desfazer, menininha non tênzi pena do veio solador? Sunlisinho, sá menina, sunrilisinho, vai poder ser? Mas ela não sorriu e comentou com seriedade que, se os homens morreram sem saber por que estavam morrendo, de pouco adiantara a vingança. Era preciso que aquilo tivesse sido um exemplo, não só para eles como para os outros. Leléu se assustou, quase ficou zangado com ela, perguntou se estava maluca, se tinha perdido de vez o juízo. Aquele fora o único jeito, que é que ela pensava, pensava que ele podia enfrentar sozinho toda a Bahia, enfrentar
todo o Brasil? Melhor que calasse a boca e, de agora em diante, pensasse mais antes de dizer besteira. Ela não pareceu ouvi-lo e disse, olhando para as mãos cruzadas no regaço, que devia haver justiça, que se houvesse justiça ele não teria precisado fazer aquela coisa inútil, se arriscar por nada, por uma coisa que nem lhe devolvera a mãe, nem lhe apagara a humilhação e o terror, nem ia prevenir a repetição do que acontecera. — Aqueles quatro não repetem mais! — gritou Leléu irritado. — Que negócio de justiça é esse, que besteira é essa, isso não existe, pode existir no estrangeiro, mas aqui não existe! — Mas vai ter que existir. — Mas vai ter de existir... Quem está falando, é a Imperatriz? É a Generala Marechala? Vai criar juízo, menina, tu tá pensando que o céu é perto, mas o céu é longe! Só se tu se mudasse para uma dessas terras que dizem que existem, mas eu não acredito nem nisso, ainda mais tu sendo mulata, quer dizer, preta. — Não. Vai ter que ser aqui, aqui é que é a minha terra. — Aqui é que é a minha terra... Qual é tua terra, menina, a tua terra é os terreninhos que eu tenho e vou te deixar e olhe lá, porque mesmo assim, se tu não for esperta, tu acaba sem nada, tem sempre um para querer tomar. — Não tou falando minha terra nesse sentido, tou falando que aqui é minha terra, nós somos o povo desta terra. — Disseste bem, disseste muito bem: nós somos o povo desta terra, o povinho. É o que nós somos, o povinho. Então te lembra disto, bota isto bem dentro da cabeça: nós somos o povinho! E povinho não é nada, povinho não é coisa nenhuma, me diz onde é que tu já viu povo ter importância? Ainda mais preto? Olha a realidade, veja a realidade! Esta terra é dos donos, dos senhores, dos ricos, dos poderosos, e o que a gente tem de fazer é se dar bem com eles, é tirar o proveito que puder, é se torcer para lá e para cá, é trabalhar e ser sabido, é compreender que certas coisas que não parecem trabalho são trabalho, essa é que é a vida do pobre, minha filha, não te iluda. E, com sorte e muito trabalho, a pessoa sobe na vida, melhora um pouco de situação, mas povo é povo, senhor é senhor! Senhor é povo? Vai perguntar a um se ele é povo! Se fosse povo, não era senhor. — E a justiça? — Que justiça? Mas, homecreia, que justiça? Onde é que tu já ouviu falar de justiça? Justiça é uma palavra dos livros, isso é que a justiça é! Justiça quem faz para mim é eu mesmo, eu que não me desdobrasse nem me virasse em oito, em oito vezes oito, eu que fosse ficar quieto, esperando justiça, que hoje o que a gente estava comendo era capim e olha lá! — É, mas vai ter justiça. Quem é que trabalha, não é o povo? Não é o povo que sustenta? Então é o povo que vai mandar. Leléu não conseguiu manter a boca fechada, ficou de queixo pendurado, achando que estava ouvindo alucinações. Que ideias eram aquelas, que é que tinha dado na cabeça da menina? — Tu não já viu todos aqueles príncipes e reis e heróis dos livros? E não viu que nem eles conseguiram nada disso, que nada disso existe, que a vida a pessoa tem de viver com os
pés no chão? — Sei não. Sim, de fato não adiantara ele ter matado aqueles quatro homens, porque isso não só falhou em devolver Vevé, como Dafé tinha comentado. Falhou também em lhe devolver a própria Dafé, que não continuou triste como antes, mas era outra pessoa. Continuava a mesma menina boa e carinhosa, mas não brincava mais, conversava pouco e saía muito para o mato, passava horas perdida lá fora, voltava andando devagar, como quem tem muitas coisas pesando no pensamento. Quando ele viajava — e às vezes inventava viagens de propósito —, ela sempre queria acompanhá-lo e ele a levava, mas ela não queria ver as coisas que ele sugeria. Ficava horas parada na rua, sentada num banco de jardim ou numa balaustrada onde consentissem pretos, olhando o povo passar e parecendo estar tão longe quanto a lua e as estrelas. Depois passou a pedir ao avô que a levasse a ver gente trabalhando. Gente trabalhando, mas que maluquice é essa? Gente trabalhando, gente trabalhando, gente trabalhando! — carpinteiros, marceneiros, ferreiros, tanoeiros, sapateiros, alfaiates, pedreiros, lavradores, jardineiros, alambiqueiros, padeiros, barbeiros, pintores, armeiros, açougueiros, carroceiros, cuteleiros, vassoureiros, quitandeiros, vaqueiros, fateiros, muleiros, carregadores, caixeiros, sineiros, ourives, tecelões, paneleiros, mineiros, caçadores, boticários, quituteiros, maquinistas, tiradentes, curandeiros, cocheiros, mariscadores, peixeiros, lenhadores, magarefes, porqueiros, verdureiros, seleiros, salineiros, azeiteiros, serralheiros, faxineiros, aguadeiros, taverneiros, amoladores, foguistas, mascates, alfarrabistas, oleiros, impressores, escreventes, acendedores, gravadores, coveiros, almocreves, caseiros, arreeiros, tosadores, capadores, leiteiros, estalajadeiros, moleiros, todos ela foi conhecer e admirar no trabalho, convencendo-se cada vez mais de que todo fazer, produzir e servir é sinal da beleza do mundo e somente é homem aquele que faz, produz ou serve. Também pediu para ver os músicos, os saltimbancos e palhaços, os cantadores de feiras, os violeiros, os repentistas decorando seus repentes, os construtores de brinquedos, os mambembeiros de largo, os desenhadores de quadros, os tocadores de música, os bailarinos de festas, os escultores de bois, bonecas e utensílios, os entalhadores com suas madeiras, os douradores com suas lâminas de ouro fino, os fazedores de magias, os fogueteiros e seus perigos, os contadores de casos e histórias, os fingidores dos autos de Natal, os criadores de passarinhos. Tudo isso e muito mais coisas ela foi ver, estudar e admirar, na companhia de seu avô Leléu, que também conhecia muitas dessas artes e seus bons praticantes, deixando-a várias vezes tão maravilhada com ele quanto ficara com Vevé, ao vê-la exercendo seu ofício de pescar. Mas, se a amizade e o amor entre eles se ramificava por outros caminhos e criava raízes ainda mais fundas que antes, isto não impedia que ela continuasse estranha, calada e arredia. Houve mesmo dias em que pareceu ter fugido de casa, deixando Leléu tonto e fora de si, até que alguém a encontrava, às vezes em lugares distantes, aonde só se podia ir de barco. Desse tempo em diante, ele começou a achar que ela estava ficando louca, louca de asilo mesmo, mas, como era louca mansa — e mesmo que não fosse —, resolveu não dizer nada a ninguém, nem procurar conselho com ninguém, para que não a quisessem trancafiar ou a julgassem possuída do demônio. Mesmo assim, não desistiu de aconselhá-la: esses pensamentos não são próprios nem de negro nem de mulher — disse-lhe muitas vezes — e são
pensamentos de quem não conhece nem o mundo nem a vida. Mas ela, embora costumasse ouvi-lo sem discutir, não mudava de comportamento, nem deixava de explicar a ele suas ideias esquisitas. A princípio, ele não queria escutá-las, mas terminou por habituar-se a isso. Pelo menos, falando somente com ele, ela não corria o risco de não conter a vontade de falar com alguém e vir a ser tida como louca e sediciosa. Mas será que ela não falava? Por que, de uns tempos para cá, depois de ter conhecido o velho Zé Pinto, tanoeiro antigo meio aposentado, mas que ainda pôde mostrar a ela as coisas de seu trabalho, ia de vez em quando visitá-lo, levar-lhe uma comidinha e passar horas prosando? Por que, depois desse conhecimento, também deu para conversar com um antigo negro do barão de Pirapuama, na época apanhador de cascas de ostras para a caieira do comendador, um negro que nem falava direito, visto o barão ter-lhe cortado a língua? Mas ela aprendeu a entender o que ele dizia e chegava a pegar um barco no domingo, para ouvir o que ele tinha a contar. Ficou também amiga de uma certa Merinha, do Manguinho, negra caseira de uma família rica, que nunca tinha visto antes, mas agora parecia que eram irmãs. Leléu continuou preocupado, ficou com ciúme, armou até umas brigas feias. Que diabo era aquilo, que vida era aquela, que ela estava levando? Se negro já não era considerado família, família de negro já era senzala e amancebamento, como esperar que ela jamais nunca em nenhum tempo fosse considerada moça de família, continuando a agir assim? Aprendera o que era uma moça de família, estudando com aquela velha coroca, ou não aprendera? Tudo indicava que não, pois apontasse uma só moça de família que tivesse aquelas conversas, tivesse aquelas ideias, tivesse aquelas atitudes, se acompanhasse de negros pretos desqualificados, não aproveitasse para melhorar a raça e preferisse, em vez de sair dos pretos, voltar aos pretos? Nascer preto, tudo certo, não se pode fazer nada. Mas querer ser preto? Quem é que pode querer ser preto? Mostrasse um que, podendo, não ficasse tão branquinho quanto uma garça! Como é que a pessoa pode aproveitar para procurar deixar de ser preta e não aproveita? — Eu nunca vou deixar de ser preta, voinho. — E tu é preta? Não és preta, senão mulata, mulata de olhos verdes, e muitas menos bem parecidas, muitas muitíssimo menos bem parecidas, hoje são quase-quase brancas, são consideradas, estão arrumadas na vida. Eu mesmo sei de muita gente bem raceada, mas bem raceada mesmo, que hoje é branca, atingiu as posições, tem importância na vida. E tu, que pensa tu? Pensa em saber quem foi Dadinha — eu sei lá quem foi Dadinha! —, pensa em... — O senhor sabe quem foi Dadinha, meu avô. — Então sei! Não foi nada, não foi coisa nenhuma, foi uma velha gorda, corró, mentirosa, safadosa... — Não foi minha bisavó? Mãe de Turíbio Cafubá? — Mãe de... Quem é que está te contando essas coisas? Isso é negócio daquele velho broco, Zé Pinto, eu vou pegar um cacete e tacar umas porretadas na cabeça dele, pra ele deixar de ser abelhudo e enxerido, quem é que tá te contando essas coisas? — Por que o senhor não me conta também? O nome de minha mãe, o nome verdadeiro, era Naê? — Eu não vou te contar nada dessas coisas! A gente luta, luta, luta, a gente luta que
chega o corpo nunca mais parar de doer mesmo descansado, a gente luta, luta, luta para sair duma situação, para melhorar, para subir, e aí o que é que aparece? Aparece uma como tu, que eu acho que vou mandar trancar em casa pra não sair fazendo asneira, querendo voltar pra baixo, querendo saber dessas coisas, querendo se meter em confusão, alterar o que não pode ser alterado... Eu conheço a vida, entendeu tu? Eu conheço a vida! — Quem foi o caboco Capiroba? — Caboco Capiroba? E nunca teve nenhuns cabocos Capirobas, menina, nunca teve nada disso, isso é tudo lenda! Mas será possível que eu te mando para a escola com pensionato, te boto com a melhor professora, te pago todos os livros para que tu tenha conhecimento e tu agora resolve crescer como rabo de cavalo, desaprender, se preparar pra ser uma nega preta veia, em vez de gente? Que caboco Capiroba, nem caroba capiboca! É para isso que tu estudou? Foi pra isso? — Não teve a filha do caboco, que se chamava Vu? O senhor conheceu um homem por nome Júlio Dandão? — Júlio Dandão? Bandido! Mandingueiro, feiticeiro, deve de ter fugido com mais de quarenta roubos e mais de vinte mortes nas costas! Não venha me dizer tu... Júlio Dandão, não, tu não teve com esse Júlio Dandão, tu teve com ele? Isso não é companhia para a senhora, não é companhia, tu entendeu? Não é companhia para a senhora! — Mas ele não anda mais por aí, sumiu, o senhor mesmo disse. — E o que é que tu quer saber dele? Ele não é seu parente, não é nada teu, pra que tu quer saber dele? — Eu só perguntei, foi só uma pergunta. E meu pai, o senhor conheceu meu pai? Leléu revirou os olhos. Que era mais que ia dizer à menina, que era mais que podia fazer? Ficou meio sem graça, levantou-se fingindo que ia olhar as plantas, acabou tendo a atenção despertada por um menino que tentava empinar uma arraia e corria puxando o cordão, quase por cima das leiras da horta. O menino pensou que Leléu ia reclamar e correr atrás dele para dar-lhe uns cascudos como sempre ameaçava, mas isto não aconteceu. Muito sério, Leléu pegou a arraia, examinou-a com jeito crítico, disse ao menino que, com aquele rabo, ela nunca ia subir. Aliás, aquela era uma arraia muito da ordinária, parecendo até a cara de quem fez, deixasse que ele ia mostrar o que era uma arraia. E entrou no quarto dos guardados, apanhou uma porção de coisas, foi fazer uma arraia nova, passou a tarde empinando-a e dando aulas sobre os ventos ao menino e aos outros que se juntaram. Deve ter sido aí que ele começou a virar criança e, aos poucos, deixou de reclamar com a neta. E não só deixou de reclamar como, um belo dia, chamou-a para uma conversa que ela nunca poderia haver antecipado. Disse a ela que não parecia, mas ele havia chegado a compreender muitas coisas, muitas coisas, entre as quais que a sabedoria da vida tem muitos lados, não tem um lado só. Por conseguinte, era bem possível que houvesse até muitas sabedorias em vez de uma só, de maneira que ele não estava mais negando o que pensava a neta. Achava errado, mas não negava, o mundo é assim mesmo, cheio de maneiras de ver. Então, sabia ela o que ele ia fazer? Pois lhe diria. Aquele dinheiro que tinha juntado numa vida de trabalho e mais trabalho, era dela, estava enterrado naqueles lugares que ele transcrevera no papel que agora lhe entregava. Tudo era dela, ele estava velho, queria somente ficar ali com sua hortazinha, seu pomarzinho, sua casinha, suas galinhas, seus
porquinhos, suas coisinhas, seus brinquedos, seus amigos meninos. Estava velho, bastante velho mesmo, devia ser o sujeito mais velho que ela conhecia, e então o melhor que fazia era permanecer ali mesmo sendo menino, coisa que nunca havia sido e lhe interessava muito, para uma vida completa. E, quanto a ela, agora não tinha mais desculpa para não fazer o que achava que devia fazer, que, aliás, fizesse isso mesmo: o que achava que devia fazer. Era um presente em que ele tinha pensado muito antes de dar a ela e era um presente de grande amor. Não o dinheiro, que ele não tinha ninguém no mundo a não ser ela e, portanto, era sua obrigação cuidar dela direito, pois que ela tampouco tinha alguém por si no mundo. Mas, sim, a liberdade de ser e escolher, coisa para que, pelo menos da parte dele, ela acharia ajuda, embora fosse encontrar dificuldade de todas as outras partes, dificuldade mortal mesmo, dificuldade dura e sem misericórdia. Mas este conselho lhe dava: que não fosse boba, que não confiasse, não confidenciasse e não desistisse com facilidade; que não fosse mentirosa, mas também não imprudente; que não quisesse lutar sempre do mesmo jeito, mas que visse que para cada luta há um jeito próprio, dependendo sempre das circunstâncias; e que gostasse dele, porque ele gostava tanto dela que o coração lhe doía e, se não tinha sido melhor avô, fora porque não soubera, mas tudo o que sabia e procurara aprender tinha feito para ela. Ela gostava dele? Dafé abraçou a cabeça do avô, encostou-a no peito e chorou sem fazer barulho, para que ele não levantasse os olhos e visse suas lágrimas. Disse que não havia ninguém que pudesse querer mais bem a alguém do que ela a ele, porque para ela não era somente avô, era pai, professor, companheiro, amigo, tudo no mundo. Avô melhor do que ele, pai melhor, nada melhor podia haver e, se ela saísse pelo mundo algum dia, nunca ia esquecê-lo, nem deixar de honrar seu nome e memória, nem deixar de vir vê-lo todas as vezes em que pudesse, nem deixar de lhe querer tanto bem que também lhe dava gastura no coração e o queixo tremia da afeição que queria transbordar do peito. Muito tempo nesse dia ficaram abraçados sem falar mais nada e, já de tardinha, jantaram juntos como se estivessem num banquete, com Leléu tirando do baú um castiçal de prata para enfeitar a mesa, ela enchendo de palmas-de-santa-rita os jarros da sala e os dois rindo muito porque resolveram brincar de fidalgos e fidalguias, jamais tendo acontecido tão refinado ágape — não é mesmo, Senhor Visconde? como de fato, Senhora Marquesa! — em toda a história do Baiacu, da ilha, do Recôncavo e do resto do Brasil. Depois do jantar, Leléu cochilou, porque queria descansar para de noite continuar a armar o mundéu de não pegar nada que estava fazendo para mostrar aos outros meninos. E ela, depois de ajeitar uma mantazinha leve em cima dele para que não se resfriasse e deixar junto dele uma canequinha de água para ele não ter de levantar-se se acordasse com sede, foi lá para dentro, arrumar umas coisas, que empacotou numa trouxinha. Em seguida saiu, ninguém sabe direito para onde, mas há de ter sido para algum lugar em que se juntava gente dos conspiradores da casa da farinha. Não foi nesse dia que ela partiu, mas foi nesse dia que começou a partir, e o menino Leléu já sabia que ela ia embora. Quando ela foi mesmo, ele não falou muito nem fez cena, comportou-se como tinha prometido e, abatido por solidão e saudades tão pesadas que quase não o deixavam andar na casa vazia e jardim deserto por ausência dela, se recusou a chorar
mais uma vez, embora para isso tivesse de engolir os soluços como quem luta para manter no estômago um remédio enjoado. Preferiu ter orgulho, não sabia bem de quê, mas orgulho, um orgulho vagaroso e pleno, que dava sabor ao ar inspirado durante a lembrança dela. E foi assim orgulhoso, segundo uns vendo a neta de quando em vez, segundo outros apenas recebendo recados e bilhetes, que continuou um menino feliz até que veio a morrer muitos anos depois, velhinho, velhinho mesmo, o menino mais velhinho que alguém jamais viu ou imaginou. E talvez, nesta noite opada que abafa a ilha, onde a notícia de sua morte já correu por toda a orla como uma rodilha feita de pólvora, continue achando, tão bonitinho em seu caixão ajeitadinho, tão satisfeito com suas bem puxadas incelenças, que está sonhando. A noite se entranhou nas matas, apertou seu cobertor de veludo negro sobre todos os entes, ficou mais densa e pegadiça, como se não fosse querer ir embora quando a manhã chegasse. E nas notas esticadas que as gargantas das velhas do Baiacu plangem pelos ares, vem por via dos pensamentos a mesma pergunta, desfiada nos entremeios daqueles labirintos pálidos de música fúnebre, feita pelos idosos a repetir o sinal da cruz e pelos modernos a antecipar façanhas d’armas, pergunta esta sobre se ela virá, sobre se, rompendo a noite em cavalgada irresistível, singrando os mares em esquadra imbatível, esfarinhando os matos em marcha invencível, Maria da Fé virá reverenciar o corpo do avô, o grande Nego Leléu, de irrepreensível memória. Noite, acenando suas luvas pretas para seu irmão Sereno, sua irmã Friagem, seu companheiro Desconhecido, seu ordenança Mistério, seus primos Receios, suas amigas Assombrações, seus comensais Sobressaltos, não queria nem ia responder, fazendo assim decantar-se no ar da ilha um medo insidioso de tudo, um medo de nada, a sensação que ninguém desconhece — a de que alguma coisa forte está por acontecer.
Cemitério dos Pretos de Vera Cruz de Itaparica, 26 de maio de 1863.
Desde a manhãzinha, debaixo de um chuvisco miúdo que ia e vinha, o cortejo do enterro de Leléu serpenteava devagar pelas picadas brocadas de poças e cobertas de barro escorregadio. Já quase nove horas, com um solzinho fraco parecendo aqui e ali entre as nuvens mais ralas, chegaram ao sopé do morro onde ficava o pequeno cemitério. Era difícil prosseguir, em cima daquela lama que parecia ter revestido a ladeira de baba de quiabo, mas os soldados resolveram ajudar. O mais alto entre eles, certamente um oficial, a julgar por seu talim de couro lavrado, seus jaezes dourados, sua banda de borlas fartas e seu espadagão de cabo madreperolado, convocou quatro soldados pretos e fortes e mandou que tomassem a si a tarefa de carregar o caixão. Chamou dois outros, disse-lhes, numa voz roufenha e áspera, tornada quase ininteligível pelo bigodão que lhe escondia a boca e uma parte do queixo, que fossem à frente do cortejo com duas pazinhas para cavar degraus onde possível, a fim de que todos pudessem vencer o morro com menos dificuldade. Os acompanhantes do enterro relutaram em entregar o caixão aos soldados. Um deles chegou a tentar protestar, mas o oficial o empurrou e ordenou com um gesto de seu bastão que o praça impedido de pegar no caixão ignorasse a resistência e assumisse o posto que lhe
designara. Ninguém mais reclamou, mesmo porque era uma força de cerca de trinta homens que ali estava, todos armados de pistolas de dois canos e clavinas novas como poucas vezes se via nas mãos de soldados. Além disso, a verdade era que muita gente fizera questão de vir ao enterro exatamente por causa dessa força. Queriam ver o que aconteceria se Maria da Fé decidisse aparecer, pois esta era a razão por que os soldados estavam ali. Desde o dia anterior, sabia-se da chegada da tropa, uma aguerrida companhia comandada por audaz e muito feroz capitão, cujo conhecimento das matérias militares e das artes dos combates e batalhas era renomado por todas aquelas partes. Seria aquele oficial severo e de poucas palavras, homem que estava se vendo não ser daqui mas de partes do Brasil onde se criavam heróis superiores desde o berço, seria ele o tal grande capitão? Talvez fosse, com certeza era, pois o barco em que vinha a força sofrera repentinas avarias ao arribar ao porto da Ponta das Baleias e, mesmo assim, ali estava aquele corpo de tropa, para vir mostrar o poder e a presença do Império. Teriam palmilhado todos os ermos e manguezais da Ponta das Baleias até o Baiacu, em marcha forçada através de noite, somente para não permitir que Maria da Fé novamente desafiasse a tudo e a todos. Agora mesmo, sempre garboso, altíssimo em seus coturnos de solado triplo e empenha reforçada, dividia-se como uma onça que faz tento simultâneo na cria e no território, não cessando de andar para cima e para baixo, dirigindo os homens e farejando as redondezas na intenção do inimigo, inimigo que — estava a ver-se, pois qualquer um reconhece a competência no ofício quando a testemunha — jamais poderia surpreendê-lo. Mesmo porque colocara sentinelas em todos os pontos de onde se perceberia gente vindo ao longe, demonstrando o muito de sagacidade militar que aprendera com os mestres das escolas de guerra. E também, desde que o caixão de Leléu deixara sua casa, despachava continuamente batedores à frente, detendo o cortejo toda vez que um deles se retardava, de tal forma que aqueles que odiavam a visão dos fardados, que para eles só vinham bater, espezinhar, humilhar, exigir, pilhar, matar e brasonar, passaram a temer pela sorte de Maria da Fé e a rezar para que sua astúcia de raposa não lhe faltasse, afastando-a de encontro tão fatal. Que capitão, que maneiras ríspidas, que perfeita adesão aos mores militares! Invadindo o velório, para grande susto dos presentes, não hesitara em desafiar o choro e a lamentação dos ofendidos, fazendo evacuar a casa depois de mandar abrir o caixão, já fechado para o féretro. Queria certamente averiguar se era mesmo Leléu que ali estava, talvez até se não se fingia de morto para ajudar sua neta bandoleira na montagem de alguma armadilha. Passou muito tempo lá dentro na companhia do defunto e já havia grande nervosismo entre os que foram postos para fora da casa quando ele saiu e, só por gestos, como parecia ser seu hábito, ordenou que fechassem outra vez o caixão e o transportassem ao cemitério. E, sem remover o chapelão, quase embuçado por baixo de sua capa trespassada de alamares coruscantes, cruzou as mãos às costas para acompanhar a saída do cortejo, o rosto liso e trigueiro impassível, imerso na sombra do chapéu e das abas da capa, o bigode pendido como os chifres de um bode montês. Se já não se fala num enterro, neste o silêncio era quase visível, pontuado pelo chapinhar de pés no caminho alagado e quebrado de vez em quando pelo gazeio de uma garça ou outra despencando do morro rente às copas das árvores para ir mariscar nos apicuns. Finalmente, o caixão chegou à boca da cova. A chuva, que havia parado fazia bastante tempo,
foi chegando trazida por um sopro de vento, vindo aos poucos contracosta acima, como uma cortina em que se dá um puxão lento e determinado. O coveiro Aristides olhou para cima irritado com as primeiras gotas, que já faziam a água das poças começar a formar regos pelo barro e inundaria em breve o buraco retangular com tanto capricho cavado na madrugada, pulou para dentro dele, estendeu os braços, abanou as mãos pedindo que lhe passassem o caixão. — Saia! — rosnou o capitão. — Saia! Não é assim! Aristides pareceu não entender, parou ainda com os braços estendidos, a chuva lhe escorrendo pela cara. — Saia! — repetiu o capitão, a voz estranhamente aguda para quem, havia pouco, falava como se tivesse uma lixa na garganta. Aristides se agarrou às beiradas da cova, alçou-se para fora, ficou de pé junto ao capitão, quis falar alguma coisa, mas desistiu. O capitão deu alguns passos em direção ao caixão, deteve-se de cabeça baixa diante dele e, tão bruscamente que alarmou os que estavam por perto, sacou o chapéu, arrojando-o ao chão. E ainda nem tinham podido pensar como era estranho para um capitão trazer o cabelo preso em coque no alto da cabeça, quando ele fechou a mão sobre o grande bigode, puxou-o trazendo um arrepio de dor presumida a todos e o atiçou, como se fosse apenas uma aranha cabeluda, para junto do chapéu. — Povo do Arraial do Baiacu e de toda a terra de Vera Cruz! — disse o capitão, a voz agora clara e cristalina, um martelo de araponga retinindo por cima do rechinar da chuva e dos gritos de espanto abafados. — Estamos aqui para prestar a última homenagem a um que haverá de servir de exemplo a todos os que não curvam a cabeça à tirania, todos os que sonham com a liberdade, todos os que aprendem, na luta de cada dia, a respeitar seu próprio valor, todos os que dizem: abaixo o senhor e viva o povo! Viva o povo e viva a liberdade! Deus do céu, quem era aquela estátua de glória, linda no porte e nas palavras, senão a guerreira Maria da Fé, ali brotada por artes incompreensíveis, descasulada das vestes de um capitão mal-encarado como uma borboleta triunfante de uma lagarta obscura, raiando como o sol no meio da chuva, vinda para desatar o orgulho que apodrecia encarcerado em corações temerosos? Ei-la em carne e osso, não lenda mas verdade em que se podia tocar, não distante mas próxima, não comandando soldados mas um destacamento de seus milicianos — os Milicianos do Povo, de que tanto se ouvia falar e que tão poucos tinham visto! — Povo do Baiacu, povo de Vera Cruz, povo da ilha de Itaparica, povo da minha terra, quero vossos ouvidos para neles soprar a revolta que salva! — disse ela, e não houve quem, pelas encostas daquele morro funéreo, não sentisse o couro fibrilar como o de um cavalo e não tivesse a cabeça puxada para a frente pela voz vibrante que varava as nuvens.
Encarapitado no alto de um pau-d’arco-roxo, o miliciano do povo José da Rosa se entreteve em ouvir o discurso de Maria da Fé, que lhe chegava ricocheteado pelos pedregulhos dos barrancos, e quase se esqueceu de ficar de olho nos muitos caminhos do cemitério, como lhe tinha sido mandado. Mas não se esqueceu de todo e, enquanto o povo se aglomerava cada vez mais lá embaixo para melhor ver e escutar Maria da Fé, resolveu afastar a folhagem que o encobria e avistou um veleiro ancho e baixo montando a barra. Apertou os olhos, viu que as
manchinhas escuras que pespontavam a borda da embarcação eram cabeças de gente, muito mais gente do que normalmente estaria num barco daqueles. Barco não, alvarenga bateira, alvarenga não, barcaça gorda, barcaça não, grande barcaça, a chata de Aprígio Lopes! Mas que era aquilo, aquela tina velha com seu arvoredo escasso todo içado, bem no porto do Baiacu e com chusma tão numerosa? Chusma essa que não podia ser a chusma dela própria, pois que quatro ou cinco eram mais que suficientes para marear uma bacia idosa como aquela, que além de tudo nunca ia ter carga para alvarengar nestas bandas pobres da ilha, onde nada, quase nada, era mercadoria. Aquilo, portanto, só podia ser a tropa dos homens se aprestando para o desembarque ali na praia, eram os homens! Desgraçados, tinham desistido cedo de consertar a corvetinha em que aportaram à Ponta das Baleias. Talvez ela tivesse sido avariada em demasia e eles houvessem percebido que nunca a reparariam a tempo de chegar para o enterro. Serviço benfeito demais, pensou José da Rosa e, parando de pensar, desceu como uma lufa de vento pelo meio da copa da árvore, para dar a notícia a Maria da Fé. Na barcaça, Patrício Macário pôs a mão sobre a testa para sombrear os olhos e examinar a costa quase deserta, apenas duas ou três mulheres catando sururu, dois ou três pescadores cerzindo redes, canoas vazias encalhadas nos mangues. Estaria ali a tal grande bandoleira que deveria ser capturada ou morta por aquela expedição? Olhou em volta, desgostou-se com os maltrapilhos mal armados de quem era oficial superior. Nem sabia direito quantos estavam ali, seguramente havia bem menos do que quando partiram, a duras penas, da Bahia, depois que o capitão, afetando generosidade e condescendência, assegurara a todos que, se não fossem pagos os soldos assim que voltassem, ele os emprestaria do próprio bolso sem cobrar juros. — Isto não é Exército — disse Patrício Macário a si mesmo, em tom talvez demasiadamente alto para quem não queria ser ouvido. — Que diabo é isto? — O quê? — perguntou o capitão, que havia chegado junto dele sem ser notado. — Que disse, tenente? — Ah, nada, capitão. Estava somente pensando. — Não estava somente pensando, estava falando. — Sim, senhor. Creio que me distraí e falei sozinho. — Eu ouvi. Estava duvidando de que sejamos realmente um Exército. Isto não fica bem para um oficial, tenente, não fica nada bem. — Desculpe, capitão, não imaginava como estava falando alto. E não me referia ao Exército Brasileiro, senhor, estava apenas pensando nestes homens. Penso da mesma maneira que grande parte do nosso oficialato, não creio que nos venham sendo dadas condições mínimas de trabalho. — Sim, sei o que quer dizer — falou o capitão, circulando o olhar pelos homens empilhados por todos os cantos da chata. — Mas não seremos os primeiros a comandar uma ralé e vencer. — Tenho certeza disso, capitão. Sei que o senhor nos levará ao êxito nesta missão. — Também eu sei disso. Conhece bem a região? — Não, não posso afirmar que sim. Estive aqui um par de vezes, o meu pai tem algumas propriedades na ilha. Mas isto foi na minha infância, já faz muito tempo. De qualquer forma, temos alguns homens que são daqui destas paragens, não creio que haverá grandes
problemas em nos orientarmos. — Não devemos ser excessivamente confiantes. Gostaria de ter conosco alguns cavalos. Não me esqueço do papel esplêndido que teve a nossa cavalaria em Montecaseros. — Sim, senhor. — Onde foi seu batismo de fogo, tenente? — Contra os orientais, capitão. Servi no 17o, estive... — Sim, sim. Um momento. A barca já embicava para a pequena enseada, o mestre manobrava para amainar, o capitão foi para perto dele. — Crê que teremos dificuldades no desembarque? — perguntou ao mestre. — Dificuldades? Dificuldades como, senhor capitão? — Vejo que o terreno é lamacento, é de areia movediça. — Areia movediça? — Sim, lama que cede muito facilmente ao peso dos homens. — Ah, sim senhor, isto é, cede bastante. Mas não há de passar dos joelhos. A maré já vai alta e podemos fundear bem perto da praia, a distância a caminhar será pequena. — Não há um batel nesta embarcação, um escaler? — Isto é uma chata, senhor capitão, não há batéis em chatas. E, mesmo que houvesse, não teríamos tempo de carregá-los, pois ameaçou-me o senhor mesmo de fuzilar-me se não me fizesse ao largo imediatamente. — O senhor está a serviço do Governo de Sua Majestade Imperial. Devia orgulhar-se e, além do mais, será indenizado. — Sim, senhor capitão. Tenho certeza, senhor capitão. O capitão chegou à borda da barca, inspecionou a praia com as mãos na amurada e cuspiu na água. — Lama, mosquitos, fome — resmungou. — É o destino que dão ao soldado. Respirou fundo, deu um murro na madeira, encheu-se de brios repentinos. — Tenente! — gritou. — Comande o desembarque, já aportamos! Vamos esmagar essa malta imunda. Não importa a lama, não importam os obstáculos, não importa nada, nosso dever será cumprido! — Sim, senhor! — Homens! Não estão sobre nós os olhos da Pátria, pois é de combates obscuros e esquecidos como o que nos espera que se faz o alicerce de uma nação. Antes que desdouro, tal circunstância é galardão, pois que ao soldado não cabe perguntar, senão cumprir! E não cabe buscar o reconhecimento, senão o da própria consciência, que há de refletir a devoção incondicional à Pátria! Somos o Exército de Sua Majestade Imperial em missão de policiamento e pacificação, contra inimigos da ordem e da unidade nacional, contra os inimigos do povo brasileiro! Tenente, assuma o comando! — Companhia! Sob meu comando! Corneteiro! Subindo e descendo como um pássaro enlouquecido, o lábaro da companhia oscilava junto aos outros estandartes, cujos porta-bandeiras lutavam para equilibrar-se sobre a lama. Inclinou-se, chegou a roçar na água, enfunou-se outra vez, beijado pela brisa fria da praia
deserta. Patrício Macário, espada em punho, veias do pescoço estufadas, respingos de lama preta e fedida cobrindo-lhe a farda conseguiu, apesar de atolar-se a cada passo, fazer o percurso entre a barca e a praia diversas vezes, comandando o desembarque. Em terra, enquanto os homens, obedecendo às ordens de fazer o reconhecimento da área em torno, catavam frutas e cercavam galinhas cujos pescoços torciam assim que as agarravam, o capitão mandou convocar alguns moradores para tomar informações. Alguém sabia onde se encontrava essa bandida, ela tinha mesmo tido a contumélia de comparecer ao enterro do avô? Ninguém sabia, apesar de o capitão ameaçar a todos de enquadramento em artigos de guerra. E por que havia tão pouca gente ali, era assim tão rarefeita a população, em arraial de tantas casas e terras de tantas quintas? Sim, naturalmente que todos tinham saído para o enterro. Muito bem, onde ficava o cemitério? — Com sua licença, senhor capitão — disse um dos moradores, um velho de nariz empolado e chapéu de palha desfiado nas abas. — Pois não, meu velho, mas fale rapidamente, que não tenho tempo a perder. — É a questão de quem vai me pagar pelo que a soldadesca de Vossa Excelência tirou da minha quinta, que nem as contas pude fazer ainda, mas sei que depenaram todas as árvores de frutas, não me deixaram uma galinha e me levaram pelo menos quatro bacorinhos e uma porca velha mas ainda parideira. — A culpa é do senhor, que permitiu o ingresso deles em sua propriedade. Eles não podiam ingressar sem autorização. — Isto lhes disse eu, senhor capitão, mas não me deram ouvidos e ainda pespegaram umas porretadas em meu filho, que quis impedir que entrassem. — Seu filho há de ter-se comportado insolentemente. Não se pode ofender a dignidade das Forças Armadas, mesmo em situação extreme. — Apenas disse-lhes que não entrassem, que ninguém os tinha convidado e que não destruíssem todas as miunças e as frutas, pois é tudo que temos. — Chega! Não sejas atrevido! Serás indenizado e é o que basta, pois já devias estar orgulhoso somente por estar ajudando o Exército de tua pátria, nem todos merecem tal honraria! Pobre analfabeto, nunca ouviste falar de Napoleão e portanto nada significa para ti haver esse grande general da Humanidade dito que os exércitos marcham sobre os estômagos dos soldados. Essa é boa! Como querias que prosseguíssemos em tão perigosa expedição, por terreno desconhecido e contra uma bandoleira facinorosa e inescrupulosa, para proteger de seus desmandos gente ingrata como tu, sem alimentarmos adequadamente os nossos homens? — Mas, senhor capitão, a verdade é que essa tal bandida nunca me tomou nada e, sem o que tomaram os vossos soldados e sem dinheiro para comprar outras coisas, minha família vai à míngua. — Chega, já te disse! Queres que te mande açoitar pela insolência contra um oficial do Exército Imperial? — Não, senhor. — Então vai entender-te com o furriel da companhia, faz tua queixa a ele, apresenta provas de que os animais e frutas eram teus, preenche as requisições e empenhos devidos, paga os selos, estampilhas e emolumentos de lei e receberás o teu miserável dinheiro no devido tempo, na Pagadoria do Distrito Militar. Não me faças arrepender-me da dedicação ao
povo de que és parte, ao qual devotei sempre minha vida! Anda, fora! Patrício Macário, que permanecera de pé ao lado do capitão todo esse tempo, perguntou-lhe, depois que o velho saiu, se seria permitido a ele pagar as despesas e prejuízos do próprio bolso. Afinal, os soldos estavam com oito meses de atraso e era de se supor que o pagamento do pobre velho ainda levasse mais um ano ou dois para ser processado. — Absolutamente. Não se deve acostumar mal essa gentalha. Se abrirmos um precedente, começarão a considerar direito seu receber pagamento à vista sempre que uma operação de guerra exigir a requisição de mantimentos. De mais a mais, é o procedimento legal e não cabe ao militar questionar a lei, mas tão somente cumpri-la. — Sim, senhor. Além disso, o capitão tinha outras preocupações. Ordenou que se procurasse entre seus homens um ou dois que pudessem servir de guias no cerco ao cemitério. Deviam marchar imediatamente, marche-marche, acelerado, que a tropa fosse formada de pronto. Contudo, apesar de o toque de reunir ser reiterado pelo corneteiro quase freneticamente, alguns soldados se retardaram e outros não voltaram, parecendo haver desaparecido no matagal. Roxo de raiva, o capitão decidiu escolher três dos retardatários para punir com duzentas pranchadas cada um. Convocou seis pardos fortes e chamou o oficial médico, na verdade estudante do último ano da Faculdade de Medicina, para dar assistência ao castigo. Formada a tropa na praça do Arraial, os três homens foram pranchados, tendo o médico pronunciado todos em perigo de vida, quando, após o número prescrito de pranchadas, foram soltos pelos homens que os seguravam pelos sovacos e caíram, derreados, moídos e ensanguentados, no chão de areia dura da pracinha. O capitão deu de ombros, aproximou-se dos homens caídos, observou-os impassível e em seguida ordenou que os hospedassem em algumas daquelas choças até que ficassem bons, se ficassem, e pudessem ser submetidos a conselho de guerra. Mantendo a tropa em prontidão, decidiu fazer uma reunião tática com seus dois tenentes e quatro alferes. Explicou que havia dois caminhos para o cemitério: o que recomendara o guia e o que ele próprio escolhera, depois de rápida ponderação. O guia tinha sugerido que seguissem pela picada que levava diretamente ao cemitério, mas ele achava que deviam contorná-lo mais ao sul, talvez por Ponta Grossa, para evitar que o inimigo, já com alguma vantagem de tempo, escapasse a seu cerco. — Embarcaremos outra vez? — perguntou Patrício Macário. — Claro que não. Somos infantaria e não marinheiros. Marcharemos. Vadearemos a enseada pela parte rasa e de lá bloquearemos a possível fuga do inimigo para o continente, através do Funil. — Senhor, teremos condição de marcha para isso? A maior parte dos homens está descalça e o terreno... — Estão acostumados a lutar descalços e de alpercata. Melhor assim do que com as malditas botas reiúnas que lhes fornecem e lhes estropiam os pés. Encerrou a discussão sobre a marcha, explicou ainda que, a partir de Ponta Grossa, encetariam um rápido movimento de pinças em torno da posição presumível do inimigo. Era a lição de von Bluecher, a lição de Ney, a lição de Condé, era o pilar tático da Escola de Auxonne, era a lição de Valmy, a lição de Jena e Auerstaedt, a lição de Austerlitz. Se
marchassem com a rapidez que planejava, estava seguro de que presilharia o inimigo entre dois fogos e, numa carga final de baionetas, o liquidaria com facilidade, até porque, com toda a certeza, contava com grande superioridade numérica, visto que as informações correntes eram de que a bandoleira costumava fazer suas incursões em companhia de pouco mais de duas dezenas de homens. E deu um amplo sorriso de triunfo quando lhe foi informado que já voltava gente do enterro e que Maria da Fé efetivamente comparecera, com seus homens vestidos como soldados, e já estaria partindo de volta para os lados do Funil. — Precisamente como eu disse aos senhores — falou abrindo os braços. — Tenente Patrício Macário, tenente Alvim, marchemos imediatamente! A marcha, no entanto, não transcorreu como estava previsto. A maré ainda não tinha começado a descer ao chegarem a Ponta Grossa, já mais de meio-dia, e a tropa teve de estacionar, aproveitando para churrasquear as galinhas, porcos e cabritos que haviam tirado das quintas do arraial. Alguns dos homens também trouxeram garrafas de aguardente e, quando a maré baixou o suficiente para que vadeassem a longa enseada, muitos caminhavam com dificuldade. Em lugar da chuva, havia agora um mormaço sufocante, tornado insuportável pelas mutucas e outros bichinhos chupadores de sangue de todos os tamanhos. E a lama, coberta por uma lâmina rasa de água escura, se revelou muito mais traiçoeira e predadora do que se tinha imaginado, engolindo os soldados até a cintura e se recusando a libertá-los, o que encompridou a travessia para várias horas. Além disso, as conchas de sururu, ocultas em pencas soterradas perto das raízes das gaiteiras, retalharam os pés de quase todos, tingindo de escarlate o lodo preto e obrigando a que se detivessem muito tempo, depois de atingido o outro lado da enseada, para que o sangue fosse estancado e os pés remendados como se podia. O céu ainda coberto de nuvens apressava a chegada da escuridão e o capitão, muito nervoso, apressou seus oficiais para a organização do movimento de pinças. Ele mesmo comandaria a coluna oeste, que seguiria por perto da contracosta. O tenente Macário, cuja experiência de combate o recomendava sobre a espada virgem do tenente Alvim, comandaria a coluna leste, que seguiria uma trajetória curvilínea, como se fosse bordejar a costa obliquamente. Assim, não haveria meio de o inimigo escapar, a não ser que recuasse para o Norte, caso em que cairia nas mãos da guarnição do Mar Grande ou da Ponta das Baleias. A noite baixou e Patrício Macário, à testa de sua coluna, imaginou se não seria mais sensato deter a marcha. Afinal, não se enxergava nada por aquelas matas tenebrosas, os homens se encontravam exaustos e amedrontados e, se estivessem ambas as colunas corretamente orientadas, o inimigo não poderia deixar de ficar cercado, caso decidisse encaminhar-se para o Sul. Estava resolvido, acampariam ali mesmo. Apesar de haver poucas lanternas de campanha e a maior parte não funcionasse direito, estavam perto de um minadouro, numa capineira relativamente seca, acenderiam fogueiras, trançariam archotes, se arranjariam da melhor forma. Mas não havia somente os cantos de grilos e corujas pontuando o silêncio. Havia algo mais, que não se sabia bem o que era, uma espécie de presença opressiva e invisível, sinais de vida desconhecida nas árvores e moitas, sugestões de aparições aterradoras, avantesmas e demônios. Patrício Macário, a cabeça repousada sobre a mochila sem conseguir dormir, acendeu uma cigarrilha e ofereceu outra ao faxineiro Jonas, que, os olhos muito arregalados, punha mais lenha na fogueira e se persignava uma vez atrás da outra. Aceitou a cigarrilha
avidamente, pedindo licença e acendendo-a com um tição. Patrício Macário perguntou-lhe se estava com medo de almas penadas, ele disse que não, seu medo era das cobras, não ia conseguir dormir naquela capineira porque tinha certeza de que uma cobra venenosa viria e o picaria ou lhe comeria os olhos. Com a devida vênia, aconselhava prudência ao senhor tenente, pois as cobras não escolhiam a quem atacar, só não atacavam crianças, como todos sabiam. Patrício Macário riu e ia dizer qualquer coisa, mas um farfalhar ruidoso no matagal fez com que todos levantassem as cabeças. E ainda não tinham tido tempo de indagar o que era aquilo, quando as folhas farfalharam de novo e uma risada cava pareceu correr de uma ponta à outra do moital. E logo vieram risadinhas, casquinadas debochadas, quase indecentes, irrompendo de vários pontos na escuridão. Mas, como a vela de uma chama extinta por um sopro forte, todos os barulhos estacaram de uma só vez, voltando a instalar-se uma quietude de pedra nas redondezas. — Que foi isso? — É o Cão! Vadirretra, Satanás! — Que foi, que foi? — Não há nada aí, não ouço nada! — São os cabocos do mato que acompanham ela! — Às armas, às armas! — Corneteiros! Apesar do pânico e da confusão geral, Patrício Macário conseguiu reunir a maior parte dos homens, pois os outros haviam debandado aterrorizados ou aproveitado a oportunidade para desertar. Mas não havia tempo para investigar isso, era necessário formar piquetes e patrulhas, acender os fachos e vasculhar a área divididos em pequenos grupos, que sairiam para percorrer, a partir dali, um círculo com umas trezentas jardas de raio. Depois se reuniriam ali outra vez, caso não encontrassem o inimigo. Se o encontrassem, deviam abrir fogo imediatamente e os companheiros acorreriam para reforçá-los. Transpondo uma ravinazinha coberta de tiriricas, a patrulha comandada pelo alferes Azevedo divisou lá em cima, do lado em que havia um barranco alto, quase um despenhadeiro, algumas silhuetas, formadas pela luz de tochas ou lanternas. — Alto! Quem vem lá? — Homens do capitão Vieira, em missão de patrulha! O alferes sorriu. Eram companheiros, sim, até podia perceber, mesmo sem muita luz, que estavam de uniforme. — Alferes Sacramento? — perguntou ao homem que lhe tinha falado. — Sacramento? — Sacramento, sim — disse o homem, e foi a última coisa que o alferes Azevedo ouviu na vida, porque uma fuzilaria desabrida estourou lá em cima e ele caiu à primeira rajada. — São eles! São os homens de Maria da Fé disfarçados em soldados! — Malditos, nos enganaram! — Para trás, para trás! O alferes tombou! — Fogo, fogo neles! — Recuar! Temos de informar ao tenente! Recuar!
Logo todos sabiam, cada um à sua maneira, em versões desencontradas, da presença do inimigo com aparência de Exército, e o resultado, apesar dos esforços ingentes dos oficiais, foi que ocorreram muitos encontros infortunados entre as patrulhas. Mataram-se uns aos outros em grandes números e se feriram quase todos, no afã de dizimar o inimigo ou escapar para local seguro. Durante muito tempo ainda, seria lembrado esse desastre, chamado pela História de “A Derrocada do Baiacu”, catástrofe militar correntemente atribuída à deslavada inobservância da ética de guerra por parte dos desordeiros, bem como o recurso a táticas de que jamais cogitaria um oficial decentemente formado. Isto para não falar nos contingentes mobilizados por eles, descritos pelas testemunhas oculares como uma horda desembestada de centenas e centenas de celerados fanáticos, armados de foices descomunais e insensíveis à dor. Essa horda, entretanto, devia ter batido em retirada bem despachadamente depois do fatal confronto, pois somente circulava por ali o que com certeza era uma pequena retaguarda, de seus vinte ou trinta homens. Homens estes que, em seguida ao desbaratamento da tropa, foram os que laçaram Patrício Macário, perdido na floresta e tonto de um ferimento na cabeça, o amarraram enrolado numa corda que lhe prendia os braços colados ao tronco e o levaram embora, com alguns pontapés de leve no traseiro.
Acampamento do Matange, 28 de maio de 1863.
Não é certeza, mas há quem afirme que Maria da Fé conversa com os passarinhos e se entende perfeitamente com eles. Isto vale para os pássaros do mar — pois várias vezes a viram palestrando com gaivotas ou rindo com garças e martins — e vale para os pássaros de terra, sanhaços, sabiás, cardeais, sangues-de-boi, caga-sebos, papa-capins, bem-te-vis, canários, periquitos e muitos outros que por aqui se encontram em toda parte. Tanto assim que lá está ela agora, sentada feito uma menina na forquilha de uma mangueira, olhando para cima e sem dúvida perguntando qualquer coisa a um beija-florzinho preto que trabalha de um lado para o outro no arvoredo, dando aquelas paradinhas e revertérios de beija-flor diante dela. O beijaflor é mudo, mas isto não impede que use outros meios para conversar e ninguém pode saber se aquela dança toda não é um alfabeto. Ela, porém, não pode ficar muito tempo, por mais que se esteja inteirando de novidades com o beija-flor, porque tem o que fazer. Precisa resolver alguma coisa em relação aos dois oficiais capturados na noite de terça-feira, que estão trancados em dois quartinhos da senzala abandonada do Matange, usada por ela e seus homens como acampamento, sempre que estavam por ali. O mais graduado, o tal capitão Vieira, chegara com muita arrogância, ameaçando punições terríveis pelo ultraje a que estava sendo submetido, mas agora ficara bem mais calmo, até bastante cordato, querendo saber com ansiedade o que pretendiam fazer dele e professando mesmo uma certa simpatia para com seus captores. Em breve, ela tinha certeza, estaria acenando com promessas generosas se fosse solto, mas era claro que não se podia confiar nele. Só o tinha visto uma vez, a distância, mas sua cara de patife era a única coisa
nele que não mentia, opinião, aliás, partilhada por Budião, que já estivera com ele algumas vezes. Já o outro parecia o orgulho em pessoa, não respondia a nada do que lhe era perguntado e os encarava com um ódio altivo, que não chegava a ser engraçado somente por causa da seriedade com que o transmitia no olhar e na postura. Já em duas ocasiões, ela espiara por uma fresta na parede do quarto, enquanto ele se entrevistava com Budião. Limitouse ele, no primeiro dia, a exigir tratamento compatível com a dignidade de um oficial militar, a declarar que não reconhecia a legitimidade de sua prisão e a enfatizar que sairia dali e voltaria para esmagá-los como mereciam. Apesar de tudo aquilo soar um pouco tolo, nas circunstâncias, não deixava de conter uma certa beleza, e ele próprio não parecia a ela de todo feio, a pele morena e corada, a compleição alta e espadaúda, uma bela cabeça encimada por cabelos encaracolados, o queixo forte, os lábios carnudos, o bigode chamativo. Se não tivesse o nariz um pouco esparramado, seria de fato um homem muito belo. Não, não, mesmo com aquele nariz, era bonito; talvez com outro, melhor proporcionado, ficasse bonito demais. Sim, era bonito, era um belo homem — e Maria da Fé teve um arrepio e vontade de vê-lo novamente. Mas sem demora se aborreceu pelo sentimento. Como podia permitir que isso acontecesse, mesmo que só em pensamento? Não, não podia ser. Desde o começo que aprendera que, para ser considerada de valor igual ao dos homens, tinha de ser melhor, ainda mais precisando comandá-los. Não, nada de fraqueza, nada de sentimentos tão perturbadores que podiam levá-la a devanear ou a escorregar, nada disso. Se fosse homem, podia ter até várias mulheres, mas, sendo mulher, não podia ter homem nenhum, exceto um que não quisesse mandar nela ou achar que a tinha subjugado só porque a levara para a cama. Isso, porém, não existia, era inútil ficar pensando bobagens. Atirou fora o graveto que tinha na mão desde que estivera sentada na mangueira, passou os olhos em torno, viu os homens se ocupando de uma coisa ou outra no terreno, acenou para José da Rosa, que como sempre havia trepado numa árvore para vigiar, entrou no barracão em que Budião já devia estar esperando por ela. Encontrou-o cochilando, brincou com ele dizendo que estava ficando velho. — Estou mesmo — disse ele. — Só quem não fica velha é tu, que continua com a mesma cara, ninguém te dá mais de vinte anos por teus mais que trinta. — É que eu só faço aniversário de quatro em quatro anos — riu-se ela. — Quem manda tu não escolher a data do teu nascimento? — Eu nem sei o diacho da data qual foi, acho que no meu tempo nem folhinha tinha. Na minha terra da África, ninguém conta data. — Tu é velho que nem o diabo sabe, aqui ou na África. E Merinha, melhorou? — Melhorou, tem nada não. É bem feito, por causa da teimosia dela em querer vir com a gente de qualquer jeito. Ela não pode mais com esses repuxos. — E quem pode é tu, que é mais velho do que ela? — É, mas não tenho de arrastar aquelas pernonas e aquele bundão. — Isso é jeito de se falar da mulher, menino? — Mas eu gosto! Eu gosto duma nega gorda! Vê lá se ninguém ia me pegar com uma
magricela, modelo tu, eu acho que o homem precisa de carne numa mulher. Não, se ela perdesse o bundão, ia perder também o Budião, que eu ainda tenho bastante serventia, tem quem me queira! — Deixa de ser sem-vergonha, sujeito, para de pensar besteira, toma o meu exemplo, que nunca penso em besteira! — Mas tu é diferente, dona Maria da Fé. Tu é dona Maria da Fé. — É, pode ser. E então? — E então o quê? — Então vamos resolver logo o que a gente vai fazer com aqueles dois — disse ela, sentindo-se de repente um pouco cansada da vida e um pouco assustada, pois, ao falar nos oficiais, lembrou outra vez o mais novo e outra vez se arrepiou, não um arrepio de frio ou febre, mas alguma coisa ao mesmo tempo mais suave e mais dominadora, uma coisa que vinha pelas pernas, não na pele, não na carne, não no osso, não em lugar nenhum das pernas, mas pelas pernas. — Então? — perguntou, mais alto do que tencionara, levantando-se para caminhar pelo barracão. Budião observou que de pouca ou nenhuma serventia eram aqueles oficiais. À primeira vista, parecia boa ideia pedir por eles um resgate, um dinheiro qualquer que ajudasse nas despesas, mesmo porque, como ela sabia, estavam sempre ou quase sempre sem recursos, dependendo cada vez mais da ajuda dos lavradores amigos e de um saque ou outro, também cada vez mais raros. Mas que resgate? O Exército não pagava nem a seus soldados, que viviam aos molambos, fazendo biscates, assaltando pretos e se amotinando. O que mais se falava era de comandantes que ficaram ricos adiantando os soldos atrasados a seus comandados, cobrando juros ao triplo de qualquer transação comercial. E de outros que igualmente atufaram as burras de dinheiro, guardando para si os raros desembolsos que chegavam, exigindo comissões por compras de armas e suprimentos, e assim por diante. Portanto, nada se poderia esperar como resgate por aqueles dois, até mesmo porque, se estavam na farda, era porque antes viviam com uma mão na frente e outra atrás e não conseguiam obter ocupação decente, daí não se podendo cogitar de exigir resgates das famílias deles, se é que eles tinham família. — Na minha opinião — disse Budião —, damos umas boas bordoadas neles e... Eles gostam dessa coisa de bordoadas, no Baiacu mesmo mataram dois dos deles com não sei quantas pranchadas cada um e aleijaram outro. Então, damos umas boas bordoadas neles e depois matamos. E logo, logo, porque já tamos precisando sair daqui, não demora muito eles mandam mais força atrás da gente e nem todas haverão de ser como essa. Está dada minha opinião. Maria da Fé achou que não. Que ganhariam com aquilo, vingança boba, sem serventia que não nutrir nas pessoas as baixas paixões que todos carregam mas não devem deixar medrar? Estava admirada de Budião. Bem verdade que a violência e a morte eram às vezes inevitáveis. Ela mesma tinha concordado que a vingança dele contra Almério fora mais que justa, principalmente pelo exemplo que deu a todos os que testemunharam a vida de maldade e traição que o feitor levara. Também não fora contra muitas outras coisas que haviam feito e continuavam fazendo. Mas matar em si, matar por matar, por vingança que dá maus frutos? Não eram nesses termos as conversas que, eles e os outros, tiveram tantas vezes. Não era
nesses termos que pensavam na sempre incerta, mas inesquecível, existência da Irmandade. Não era isso o que estavam fazendo, não era por isso que estavam lutando. Budião baixou a cabeça um instante, depois levantou-a bem alto. Disse que concordava em que não devia haver violência, mas havia, quer ele concordasse ou não. Havia tanta que em toda a sua vida nunca cessara de tê-la como companheira, fosse em si mesmo, fosse nos seus irmãos de raça, fosse entre os brancos, fosse como fosse. Então a violência é parte da existência e melhor que ela seja a nosso favor que contra nós. De fato, a violência terminava por não resolver nada, mas alguma outra coisa resolvia? Se os dois oficiais fossem soltos e encontrassem de novo os que estavam ali, não procurariam espancá-los e matá-los igualmente? Então era uma questão de oportunidade, de lei da vida mesmo: cada um dos dois lados procura espancar e matar o outro, então quando um pode, um mata, quando o outro pode, o outro mata. Além do mais ela falara, sabendo que encontrava eco em seu coração, na Irmandade. A Irmandade fazia parte das vidas deles, lhes dera sempre alento, animação e esperanças, chegara mesmo a parecer confirmar-se várias vezes, mas ela mesmo dissera que sua existência era incerta, e era isso mesmo. Então o que estavam fazendo, por que estavam mesmo lutando? Por que lutara ele na Província, conseguindo uma alforria que de nada lhe valera? Por que se tinham metido em tantas tropelias, tantos combates? Porque tinha que ser, aceitava. Mas por que mais, que coisa além disso? Por que não tinham aprendido mais com os segredos da canastra de Júlio Dandão, qual era a razão de ser das coisas, o que era aquilo, aonde chegariam? Talvez estivesse ficando até mais velho do que pensava, porque agora dera cada vez mais para se sentir assim, para duvidar de tudo o que não fosse muito concreto, para não acreditar em muita coisa. Maria da Fé respondeu-lhe que não concordava. Ele mesmo acreditava na liberdade, tanto assim que preferia morrer a viver sem ela. E não acreditava também na justiça? Ela acreditava na justiça, acreditava que um dia se faria justiça, que havia um povo e não um bando de gente sem alma, gente rebotalho, acreditava que o povo devia também acreditar nisso e que eles deviam fazer alguma coisa para que isso acontecesse. Mas saber o sentido de cada ação, não sabia. Saber muito mais do que isto, não sabia. E os segredos da canastra, ele lembrasse, eram mais segredos do como que segredos do porquê, aliás o como de se achar o porquê, já que o porquê — estava nos segredos — é descoberto com a prática de cada um, e eles estavam praticando. Se Júlio Dandão tinha dito que matassem os ricos, ela retrucava que há várias formas de matar, não adiantando a forma que mata um para que surja outro igual em seu lugar. Certamente era porque Júlio Dandão ainda se encontrava no começo da descoberta do conhecimento, cuja porta os segredos apenas abriam, e esse conhecimento estava sendo completado por eles, como o próprio Dandão disse que devia ser completado. Completado por eles, não; continuado por eles, porque também dissera Dandão, olhando a canastra, que o conhecimento nunca podia ser completado mas devia estar sempre sendo completado, de forma que viriam outros depois deles — seria a Irmandade? — para prosseguir nessa tarefa. Que pensava ele que ela tinha feito, no dia em que fora à casa do finado Zé Pinto, no Manguinho, disfarçada com a ajuda de Merinha e de Martina, para buscar a canastra, que só ela sabia onde fora escondida? Todos em que se podia confiar, até mesmo alguns dos que
mais tarde se tinham juntado a eles, estavam lá, pois era como uma cerimônia e Maria da Fé havia falado que, sim, ela iria abrir a canastra um instante. Pois sabia o que ela fez? Diante da admiração e até do medo de todos, ela se afastara do grupo com a canastra na mão, abrira-a, olhara para seu interior um instante e, em vez de tirar, pusera alguma coisa lá dentro. — Eu pus uma coisa lá dentro — disse ela. — Um papel com mais uns passos do conhecimento e dos segredos que eu acho que descobri. — Que passos? — Não sei bem, não tenho certeza. Por isso que estão guardados na canastra. — Está bem, então faz com os homens como quiseres. — Não como quero, mas como deve ser feito. Esses homens não sabem, mas deviam estar do nosso lado, porque eles pertencem ao nosso lado. Se pensassem, veriam que não pertencem ao lado daqueles que os exploram e os mandam morrer como carneiros para que os senhores tenham garantida sua boa vida, mas pertencem ao nosso lado. São perigosos, porque acreditam nas mentiras que pregam uns aos outros, mentiras que sempre impingiram aos soldados e em que eles passam a ter mais fé que em si mesmos. Não podemos fazer nada quanto às cabeças deles, mas, se as cortássemos, poderíamos fazer mal a outras cabeças. Claro que cortaremos as cabeças de todos os que estejam prestes a cortar as nossas, mas eu penso como já disse antes: não quero cortar uma para que brote outra. — Sim, está certo. Então como faremos? — Acho que já sei. Manda dizer aos homens que levantamos acampamento amanhã de madrugada. E hoje de noite vou precisar de um barco, para fazer um serviço. E também peça a Merinha que venha falar comigo. — Que é que tu vai fazer? — Nada, não vou fazer nada. Vou mandar dar uma dormideira forte aos dois misturada na comida, vou esperar que durmam, vou botar os dois no barco e vou soltar de noite na Ponta das Baleias. — Na Ponta das Baleias? Longe assim? — Duas razões. Eles não sabem onde estão e não vão saber quanto tempo viajaram para chegar à Ponta das Baleias. E também é lá que tem gente e eu preciso que haja gente para fazer uma coisa que eu quero fazer com eles. — O que é que tu quer fazer com eles? Não tou entendendo nada, tou achando complicado. — Não tem nada complicado. É uma brincadeira que eu quero fazer. Saiu do barracão sorrindo, como se estivesse lembrando algo divertido. Caminhou devagar, olhando a paisagem e, sem pensar, parou à porta do quarto onde estava trancado o oficial mais moço. — Abre esta porta, Zé Popó, eu vou entrar — disse a um dos dois homens que montavam guarda, ela mesma surpresa com o que estava fazendo. — Tu vai entrar, dona Maria da Fé? — perguntou Zé Popó, espantado. — E vai deixar esse homem te ver a cara? — Muita gente já viu minha cara. E de vez em quando eu gosto de mostrar a cara. Anda, abre. Esperem aqui fora, qualquer coisa eu chamo. Patrício Macário se encandeou com a luz que entrou repentinamente pela porta aberta,
pensou que estava tendo uma visão quando percebeu a presença daquela mulher muito alta e muito bonita, vestida em roupas como nunca tinha visto nas mulheres com quem convivia, uma expressão altiva como também elas nunca exibiam e, principalmente, uma beleza luminosa, quente e calma que o fez esfregar os olhos involuntariamente. Ela parou, olhou-o longamente sem dizer nada, ele quis falar, não achou o quê. — Então? — disse ela afinal, passando os olhos pelo quarto. — Está sendo tratado de acordo com a dignidade de um oficial? — Posso saber de quem se trata? — O meu nome — disse ela — é Maria da Fé. Ele deu um passo para trás, sacudiu a cabeça como quem quer desentupir o ouvido. — Como? — Maria da Fé. Já deve ter ouvido falar em mim. Aliás, veio até aqui para ver-me, segundo sei. Para ver-me não, para matar-me, estou certa? Patrício Macário perfilou-se. — Está certa, certíssima. Para fazê-la prisioneira e talvez matá-la, se resistisse. — Não. Para matar-me. Veio para matar a nós todos. É o que o Exército vem sempre fazer. — Isto não é verdade. O Exército Brasileiro... — ... não passa de um bando de rufiões mal-amados, cuja principal missão é combater seu próprio povo. — Protesto! Não pode falar assim! Isto é uma grave ofensa, que não posso aceitar e... — Claro que é uma grave ofensa. A verdade muitas vezes ofende. E por favor procure não gritar, não está na caserna em que convive com os outros grandes heróis de que são compostos os militares. Não vim para discutir, vim para ver pela primeira e última vez o prisioneiro, sempre tive curiosidade pelo tipo de homem que encara como ideal matar ou morrer e viver se perfilando. Pode ficar à vontade, não sou general. — Isto é absolutamente inadmissível! Não será a petulância e insolência com que me fala que me vão fazer curvar a cabeça! Sou um oficial do Exército Imperial, represento o poder máximo da Nação, e o fato de estar aqui submetido a coação não me intimida. Se vem para tentar assustar-me com ameaças ou anúncios de execução, perde tempo. Fique sabendo que não dou a mínima importância ao que resolveu a meu respeito, nem isto me demove uma polegada do propósito firme de, conseguindo porventura escapar, vir a levar à Justiça e ao castigo esses rebeldes de baixa classe que representa e chefia, numa atividade inimiga da Pátria! — O que é a Pátria? — Não vou explicar um conceito sublime a uma mulher do povo, um poço de ignorância arrogante, uma bandida vulgar. A Pátria sou eu! — A Pátria é você — disse ela, rindo. — E o povo é você. — Não falava em povo, falava em Pátria! Maria da Fé transformou o riso em sorriso, olhou para ele quase com ternura, gostava do seu jeito bobamente valente, que é que tinha aquele homem? Mas logo modificou a expressão.
— Pare de gritar, senhor oficial. — Pare de insultar! — Adeus, senhor oficial. Como é o nome do senhor oficial? — Patrício Macário Nobre dos Reis Ferreira-Dutton, tenente! — Nome horrível. Adeus, senhor oficial. — Um momento! Eu exijo que me sejam dados esclarecimentos! Exijo... A porta se fechou e Maria da Fé ainda ficou parada junto a ela algum tempo. Mas logo recomeçou a caminhar e encontrou Merinha, que vinha à sua procura e lhe disse que, se misturasse duas plantas, uma parte de uma para quatro de outra, que cresciam como mato em todo o Matange, e se fizesse delas um extrato, duas gotas bastariam para pôr um homem grande a dormir, duas gotas que não tinham gosto de nada e não alteravam qualquer comida ou bebida. E não entorpeciam, não enjoavam, não incapacitavam, não chegavam nem propriamente a adormecer, mas retiravam a consciência de quem as tomava de maneira perfeita para o caso. Muito bem, respondeu Maria da Fé, providencie.
De noite, ainda bem cedo mas muito escuro, Maria da Fé foi ver o barco e depois voltou para o acampamento, para saber se os oficiais tinham comido bem. Tinham comido muito bem, respondeu Merinha e, se aquelas danadas daquelas cespitosas matreiras não lhe falharam, já deviam estar bem mais para lá do que para cá. Maria da Fé então ordenou que deixassem os dois homens nus nos seus quartos, guardando as fardas para um caso de necessidade. Mas não vestiriam neles outras roupas? Não, disse ela, nus. Assim foi feito e ela, já quase na hora do embarque, veio ver como tudo estava. Estava tudo bem, tudo conforme, esperavam apenas a ordem de transportar os homens para o barco. Ela de novo parou à frente do quarto de Patrício Macário, de novo mandou que abrissem a porta. — Ainda tem uma coisa que preciso fazer. — Mas ele está dormindo nu aí dentro! — Então botem um lençol em cima dele. Entrou pouco depois, fechou a porta, lá estava ele, somente a cabeça aparecendo entre as dobras do lençol, à luz fraquinha de uma lamparina de caneco. Ela parou junto ao catre, sentiu fogo outra vez, fechou os olhos um instante, as mãos tão cerradas que quase cravou as unhas nas palmas. O coração disparando, o fôlego opresso, mas um bem-estar muito grande por todo o corpo, curvou-se para ele, tão belo e forte dormindo igual a um inocente e, bem devagar, levantou o lençol, desvelando-o como se temesse acordá-lo. O que ela fez em seguida? Ninguém sabe. O que se sabe é que saiu dali algum tempo depois com um ar quase maroto, que podia ser por causa da travessura que ia cometer. Levou os dois de saveiro para a Ponta das Baleias e deixou-os silenciosamente no Largo da Glória, deitados embaixo das árvores, nus em pelo. No outro dia, eles foram encontrados igualmente nus e provocaram muito riso e agitação em toda a vila, até que lhes arranjaram roupas e lhes escutaram a maravilhosa narração de seu infortúnio, nas mãos da grande bandida Maria da Fé. Infortúnios estes tornados ainda mais vívidos pelo testemunho dos amigos dela, porque se assegura entre os que têm conhecimento do episódio que foram os bem-te-vis que acordaram o povo da vila para
ver os homens nus, os sabiás com seu canto sonso que poetaram a ocorrência e o beijaflorzinho preto que voltou a ela para contar como tudo havia sucedido.
13
Ponta das Baleias, 7 de janeiro de 1865.
Entre as centenas, talvez milhares, de grandíssimos heróis e patriotas que povoam as plagas e a História da ilha e do Recôncavo em geral, não avulta figura tão formidanda que possa fazer sombra a João Popó. Haverá quem seja mais afamado, quem tenha mais méritos intelectuais ou marciais, quem se distinga mais na oratória. Mas não existirá, entre todos estes, um só cujo coração abrigue, ou abrigado haja, mais amor à Pátria, mais fervor cívico, mais paixão inflamada pelo torrão natal do que o velho João Popó. E em toda a ilha não há quem como ele se regozije, os olhos a todo instante submergindo em lágrimas setênfluas, o coração quase pulando fora do peito, a garganta tão estreitada que prende a fala, com as comemorações da data magna do Sete de Janeiro. Marca este dia, como sabem todos os verdadeiros brasileiros, a vitória final dos itaparicanos sobre a malta opressora. Buscavam tomar a ilha, os sicofantas, mas, ao apontarem seus navios pela orla formosa que faz face à Bahia, todas as praias se transformaram em grotões trovejantes, tal a intensidade da metralha itaparicana. Tentaram Amoreiras, foram repelidos até a facadas e pedradas; tentaram a Ponta de Areia, foram rechaçados até a murros e pontapés; tentaram a Ponta das Baleias, foram massacrados pela marujada ilhoa; tentaram o Mocambo, foram dizimados por um exército de crianças e mulheres aguerridas. E é nisso que vai pensando o velho João Popó, enquanto caminha pela rua do Canal abaixo, com muita pressa porque já está quase na hora do cortejo cívico. Dobrado na algibeira peitoral, o rascunho do discurso de improviso que fará na Câmara Municipal faz-lhe parecer ainda mais saliente o esterno já por natureza empinado como o de um galo. Está mais elegante do que todos os bem-vestidos passantes, que cumprimenta criteriosamente, distinguindo o grau de amizade ou importância de cada um pela altura a que remove o chapéu. Mas não para para conversar, desculpa-se sempre que alguém quer iniciar uma troca de palavras mais longa, tem que correr, há ainda muitas coisas a providenciar, hoje é o grande dia. E todos compreendem, porque conhecem o seu patriotismo intransigente e a contribuição maiúscula que presta aos festejos, pagando do próprio bolso a maior parte das despesas, dada a insuficiência e incerteza das verbas oficiais. Assim, ninguém perturba sua marcha pela rua do Canal em direção ao Campo Formoso, nem mesmo sabendo que ele vai por ali porque deseja ser discreto e não quer ser visto no movimento maior da Direita da Matriz. É um homem de grande responsabilidade, responsabilidade esta cuja desincumbência se faz possível apenas para quem tem bons recursos. E bons recursos ele tem, não somente o matadouro e os açougues na ilha e na Bahia, como os armazéns, as fazendolas, as casas de renda, os seis barcos de pesca. Graças a isso é que pode não só dar dinheiro para a festa do Sete de Janeiro como fazer o que está fazendo agora. Quem parar um pouco para acompanhar sua passagem verá que atrás dele, a umas boas cem jardas, vêm Militão e Boanerges, dois de seus negros magarefes, carregando pacotes de
acém e chupa-molho nos bolsões das fraldilhas e dois balaios com as carcaças dos recentais que todos os anos ele manda abater, para que sejam o almoço do dia da festa. Teve a ideia por causa de um discurso que ele mesmo fizera, há muito tempo, em que rememorara os feitos heroicos dos praieiros, afirmando que não mais eram um bando de carneiros pastoreado por ladrões e meliantes a soldo da Coroa lusitana. Nada melhor, pois, para bem assinalar o dia entre os itaparicanos, do que aliar a força da metáfora à força da comida, mandando entregar em todas as casas os cordeirinhos. Todas as casas não da Ponta das Baleias, hoje já grande e adiantada, transformada em sede de Município com o nome oficial de Denodada Vila de Itaparica, mas das famílias de João Popó. Porque, entre as suas sérias responsabilidades, está também a de prover o sustento de um número de descendentes considerado grande, mesmo para terra de mulheres tão ferazes quanto a ilha. Com Iaiá Candinha, a legítima, teve dezoito filhos, criando-se todos menos Olegário, que morreu aos dez, de uma raiz de dente inflamada. Com Iaiá Menina, irmã de Candinha, teve onze, mas dois nasceram mortos, de maneira que ficaram nove. Com a negra Laurinda, da copa e da cozinha da casa de Menina, teve três, todos homens e mulatões dobrados. Com Maria Zezé, sobrinha de Candinha, que vive no Mutá mas vem ficar com a tia para a festa todos os anos, teve quatro, que ainda moram com a mãe, exceção feita a Perolina, que se casou e se mudou com o marido para Santo Antônio de Jesus. Com Rufina do Alto, que o povo considera feiticeira, teve cinco, mesmo número que também fez numa rapariga para quem montou casa na Ponta do Trilho, de nome incerto, mas conhecida como Maria Pataca na vizinhança. Com as negrinhas da senzala do pai e dele mesmo, teve mais de vinte, talvez mais de trinta, embora Chico Popó, o irmão mais velho que morreu na Independência, também gostasse de ir às negras, de forma que alguns dos filhos podem ser dele. E com outras mulheres, uma afilhada aqui, uma comadre acolá, uma prima visitante, uma agregada ou duas, foi tendo mais alguns, às vezes mais que alguns, ignorando-se assim o número exato de seus rebentos diretos e indiretos, mesmo porque os dois ramos principais têm nomes diferentes — o de Candinha, Azevedo, o de Menina, Batista, de forma que o parentesco pode chegar a perder-se de vista, ressalvando-se somente que o povo chama quase todos pelos nomes de pia mais o sobrenome Popó. Em árvore tão copada, é difícil apontar os frutos que mais se destacam. O que se pode dizer é que há de tudo entre os Popós, desde Luiz Popó, que não toma banho, bebe cachaça o dia todo e mora no meio das mulas, até Lafayette Popó, que começou como mestre de obras municipal, nomeado pelo prestígio do velho, e rapidamente chegou a rico proprietário de diversas fazendas e sobrados. E há Popós em toda parte, pois que nem todos ficaram em Itaparica ou mesmo no Recôncavo. Alguns foram para o sertão, outros foram para a Corte, outros sumiram no mundo sem mandar notícias. Mas, de todos, os filhos de Rufina do Alto são os mais famosos. São Zé Popó, Dionísio Popó, Vavá Popó, Geminiano Popó e Rita Popó. O sangue de Rufina, cabo-verde com mina com açoriano, sempre foi tido por muito forte, de maneira que deve ter sido a ela que os meninos saíram, embora João Popó, que hoje só não continua a carregar um cacete quando vai à rua porque a posição não permite, também seja descrito pelos mais antigos como flor que na juventude não se cheirava, farrista, arruaceiro, capoeirista, criador de casos e porradeiro mestre. De qualquer forma, são todos uns caboclos da pá virada, uns verdadeiros
cães dos infernos, com quem ninguém quer complicações. Para culminar, Zé Popó, já em idade de ter um pouco mais de juízo, resolvera juntar-se aos bandidos comandados por Maria da Fé, mas nem por isso deixava de vez em quando de aparecer na vila, disfarçado disso ou daquilo, para fazer provocações, visitar e desrespeitar moças de família e desafiar a autoridade. As preocupações com a prole, contudo, não vão muito além da necessidade de despachar os cordeiros, nesta hora em que João Popó, com um sinal para que Militão prossiga até o Alto de Santo Antônio, onde fará entregas a Rufina e a outras, manda Boanerges entrar pelo lado da casa de Iaiá Menina para se entender com as negras da cozinha. Ajeitou a casaca nova, aprumou o colarinho alto, empertigou-se, entrou sem olhar para os lados. Menina estava, como sempre, sentada na cadeira de balanço, costurando à luz que entrava pela janela e, como sempre, não levantou os olhos à chegada de João Popó. Desde o dia em que ele, noivo dela, escandalizou a família por haver engravidado Candinha, tendo sido forçado a casar-se com esta, Menina não lhe dirigia a palavra, a não ser para responder-lhe as perguntas. Os filhos que fizeram, fizeram sem falar-se e, quando ela precisava dizer alguma coisa a ele, usava a negra Laurinda. No começo, João Popó quis convencê-la a abdicar daquela postura cabeçuda e orgulhosa, mas ela permanecia na mesma, de forma que ele acabou por se acostumar. Parou à porta, esperou em vão que ela desse sinal de haver notado sua presença. — Muito bem — disse, depois de pigarrear. — Passo por aqui apenas para comunicar à senhora que já chegou o negro Boa com os dois cordeiros do almoço. Onde está Laurinda? Ela fez um gesto de cabeça em direção à copa, ele se dirigiu lá para dentro, encontrou a negra na cozinha, conversando com Boanerges. — Não quero essas conversas de porta de cozinha! — disse energicamente. — Já descarregaste os dois carneiros, Boanerges? — Nhô sim. — Entregaste a carne? — Nhô sim. — Então que fazes aqui, como uma comadre velha e tagarela? Vai cuidar do teu serviço antes que me aborreça! Voltou-se para Laurinda, deu-lhe uma palmadinha no traseiro. — Então, moleca, algum recado? — Iaiá Menina quer saber se Ioiô vai almoçar aqui hoje. Ela disse que faz oito anos que Ioiô prometeu almoçar aqui no Sete de Janeiro e até hoje isso não se deu. — Como é que vou almoçar aqui? Hoje recebo autoridades em casa, pessoas gradas, dona Candinha já está trabalhando desde as quatro horas da manhã. Isto é uma ideia desmiolada, diz a ela que para o ano eu almoço, este ano não. — Iô sim. — Diz-lhe que venho à noite, depois das seis. Diz-lhe que vou precisar dela hoje. — Ela está de reumatismo desde a quarta, já passei óleo hoje duas vezes. — Então vou precisar de ti. Deixa a porta do quarto aberta como de costume. — Eu também estou de reumatismo. — Fala isto outra vez e já te mostro o teu reumatismo. Queres que durma sozinho? — Sá Rufina mandou recado mais cedo, diz que quer falar com Ioiô.
— Já sei o que é, Militão já deve estar chegando lá com a carne e o carneiro. — Acho que era isso não, Ioiô. — Cala-te, deixa de ser ousada. Anda, põe a mão aqui, pega aqui um instante, anda. — Aqui não, Ioiô, deixa de ser doido, Iô João Popó! — Velha gostosa... — Iô João, daqui a pouco entra gente! — Tenho que sair, senão te mostrava outra vez aquilo que te mostro desde que vieste para cá. Vês, vês como cresce? Queriam muitos rapazinhos ainda ter esta tesão! — Iô João... Iaiá Menina chegou à porta da cozinha, parou, deu meia-volta. João Popó se afastou de Laurinda, que correu para o fogão com as mãos no torso, e foi atrás de Menina. — Que foi? A senhora não viu nada, não precisa fazer esta cara! Por que está com esta cara? — Não estou com cara nenhuma. — Está sim! Já estou farto disso, age-se aqui como se eu fosse um bandido! Responde, falta alguma coisa nesta casa, falta? Falta? — Jamais disse que faltava. — Mas se comporta como se faltasse! Nunca poupei nenhum sacrifício, nunca coloquei meus interesses acima dos interesses dos meus dependentes, sempre agi com correção e o que recebo? Ingratidão, é o que recebo! Ingratidão! Não tivesse eu que cumprir meus compromissos com a Pátria, havia a senhora de ouvir um bom par de verdades! Onde estão os meus sapatos de verniz, os velhos? Este par está muito redomão, somente para trocálo parei aqui, não tenho tempo para ficar a aturar as rezinguices da senhora! A senhora é uma velha rabugenta, isto é o que a senhora é, uma velha rancorosa, incapaz de perdoar uma falta da mocidade pela qual já tantas vezes pedi perdão, e somente um coração empedernido e ingrato como o da senhora é que o nega! Meus sapatos! Saiu aborrecido, suando um pouco, sentindo-se injustiçado e explorado. Bem, mas não podia deixar que essas coisas o perturbassem. Como era mesmo que começava o discurso? E a parte referente à guerra não estaria um pouco fraca? E haveria realmente batalhas em andamento? Reagira o Brasil ao aprisionamento criminoso do Marquês de Olinda? Estaria de fato a Nação em guerra? Tantos boatos, tantos rumores, que haveria de verdade neles? Tentou rememorar a parte do discurso que falava na guerra, não conseguiu, tinha que ser pela ordem. Passou a andar menos depressa, repetindo o discurso a partir do começo, numa voz meio regougada, quase um ganido, em que as palavras só eram compreensíveis para ele mesmo, os outros percebendo delas apenas a entonação dramática e as pausas de estilo. — Que é isso, pai, já discursando daqui? — Ah, hem? — espantou-se João Popó, que sem notar quase esbarrara em seus quatro filhos mais velhos, Cochrane, Labatut, Lafayette e Washington, que saíam do beco do mercado em direção à Câmara Municipal. — O senhor estava discursando sozinho. — Estava nada, deixa de bobagem, Ostinho. — O presidente vem?
— Talvez venha, talvez tenha chegado. Não tive tempo de ir esperar o vapor. — O vapor novo ainda não chegou. — Ah, então temos tempo. Avista-se o navio? — Não, isto é que é curioso. Já devia estar chegando e não se vê nada do lado da
coroa.
— Bobagem, deve estar vindo. O presidente não ia faltar, é uma ocasião importante, importantíssima. — Bem, como eu estava dizendo a Labinha, talvez ele não venha. Esta história de guerra é mesmo verdade, já há tempo estamos mesmo em guerra com o Paraguai, mais de mês, talvez. — Quem te disse? Esses boatos correm o tempo todo, não se passa um dia sem que se fale em guerras no sul, contra os orientais, os portenhos, não sei que mais lá. — Não, não, é verdade. Na Bahia já se sabe de tudo, as coisas são sérias, estamos em guerra! Pergunte a qualquer das pessoas que já chegaram de lá, todo mundo sabe. — Deus meu! Estamos em guerra? Guerra? João Popó cambaleou, sentiu no peito uma ardência insopitável. Ergueu a bengala para o alto sem saber o que fazer, querendo correr em todas as direções, querendo discursar ao ouvido de todos, querendo pegar em armas, querendo subir à torre da Matriz para fazer dela uma tribuna. — Os sinos! — rosnou. — Por que os sinos não estão dobrando? Estamos em guerra! Em guerra! O Brasil está ameaçado, compreendem isso? Ameaçado, atacado, odiado pelo inimigo! Estamos em guerra, é preciso haver coragem e determinação, o Brasil não pode sucumbir, não sucumbirá jamais! Pouco tempo depois, mesmo na ausência do Presidente da Província ou de um seu representante graduado, João Popó, sentindo-se até mais tonto do que quando ouvira pela primeira vez a notícia, esqueceu o discurso decorado e, em transporte d’alma, como se estivesse apenas repetindo o que lhe era soprado das nuvens, falou durante mais de meia hora. Disse como era apropriado que ele e muitos outros itaparicanos soubessem da guerra exatamente naquela data. Era um presságio divino, uma coincidência aviada pela Providência. Queria dizer que outra vez os itaparicanos salvariam a Pátria e preservariam sua integridade. Já tinham feito isto contra os holandeses, contra corsários de todas as nações, contra os opressores lusitanos, fá-lo-iam agora contra o infame inimigo paraguaio, que jamais deitaria suas garras imundas sobre o altaneiro pavilhão do Brasil. Ele mesmo conhecia pessoalmente a fibra do itaparicano, fibra no passado, fibra no presente, fibra no futuro. Privara pessoalmente do convívio excelso de muitos dos heróis pretéritos, itaparicanos ou homens de raízes na ilha — Barros Galvão, João das Botas, o barão de Pirapuama, um verdadeiro e injustamente esquecido guerreiro e estadista da Independência, tantos outros que a História não haveria de relegar ao olvido, antes sempre enobrecer nos mais altos píncaros da glória maior, a glória de haver servido à Pátria por amor à Pátria. E, quanto ao passado e ao futuro, ele mesmo estaria na primeira linha de combate, permitissem-no os anos que já lhe pesavam sobre as costas. Mas, se não podia ir pessoalmente para a frente de luta, enviaria seus filhos. Eram maiores, emancipados, não lhes daria ordens. Mas tais ordens não seriam necessárias, pois tinha
certeza de que, assim que ouvissem a argêntea clarinada da convocação sublime ao cumprimento do dever brasileiro, pelo menos um deles já estaria pronto para embarcar. — E isto eu juro sobre minha honra de cidadão, minha honra de brasileiro, minha honra de patriota que não cessará jamais de lutar e resistir, enquanto houver um paraguaio vivo! Abaixo o opressor lusitano! Abaixo o invasor holandês! Abaixo Madeira! Viva João das Botas! Viva Maria Felipa! Viva sóror Joana Angélica! Viva lorde Cochrane! Viva o barão de Pirapuama! Viva a denodada vila de Itaparica! Viva sua majestade imperial, Dão Pedro II! Viva a Independência do Brasil! Morra o Paraguai! Viva a Pátria! Derretendo-se em suor, a baba indignada lhe escorrendo pelos perigalhos do queixo, caiu nos braços dos primeiros que, espremidos numa multidão emocionada às lágrimas e aos urros, vieram cumprimentá-lo. Lá fora, por todo o largo, o povo aplaudia com palmas, vivas e foguetes. Até mesmo o grupo fantasiado com tangas e cocares para desempenhar o papel da caboclada atrás do préstito, geralmente pardos pobres que fazem isso a troco de cachaça e costumam estar bêbados demais para ligar para qualquer coisa, pareceu se empolgar e alguns tacapes chegaram a ser agitados no ar. E, claro, João Popó não sabia, mas saberia depois com orgulho inexprimível, que a afortunada coincidência a que aludira em seu discurso era ainda mais extraordinária do que lhe parecera. Pois no mesmo dia, quem sabe na mesma hora, enquanto ele invectivava o inimigo na praça da Quitanda e o espectro da guerra estendia sua sombra gélida sobre o Brasil, o Governo de Sua Majestade Imperial, do alto da Corte do Rio de Janeiro, baixava decreto criando os Voluntários da Pátria, a flor da mocidade nacional que iria bater-se nos longínquos campos de honra da campanha do Paraguai.
Salvador da Bahia, 23 de maio de 1866.
Nunca iam acabar aqueles cumprimentos lamuriosos, aqueles beiços pendurados, aquela pantomima toda, mas que ritual mais cretino! Bonifácio Odulfo recebeu o abraço morno, excessivamente longo e sacudido, do professor Oscar Pedreira e teve de conter a vontade de dar-lhe um empurrão. Sim, sim, está certo, lamenta muitíssimo o passamento do comendador Amleto, não tem pensado em ninguém senão ele durante cada um desses 365 dias que transcorreram desde a sua morte, e é claro que acredita que com esta sabujice conseguirá que não se proteste a letra que tem vencida no Banco, hoje mesmo será mandada a cartório. Quantos ainda haverá nessa fila interminável? Todos de preto, as mulheres de mãos postas compungidas, os homens afetando os mais ridículos tipos de soturnidade, que procissão mais grotesca! Tudo um mero ato superficial, destituído de sentimento verdadeiro e, o que é pior, de utilidade prática. Neste ponto, o comendador Amleto tivera sempre razão, como, por sinal, em muitos, muitíssimos outros: o que não tem finalidade prática carece de sentido, é coisa vazia, de que a Humanidade precisa aprender a livrar-se. Que quer dizer esta hipocrisia toda? Para que isto? As pessoas precisam evoluir, é necessário que compreendam que tudo deve evoluir e cada um de nós também!
Como, aliás, ele próprio evoluíra muito, desde o dia em que, voltando para casa de madrugada, a sobraçar um maço de exemplares de seu último poema, Brados na Alvorada, recém-saído do prelo e recém-lançado no Mazombo, estranhou a porta aberta àquela hora, as carruagens paradas defronte, vozes e vultos abafados, como que zumbindo lá dentro. Subiu a escada de dois em dois degraus e a primeira pessoa que viu foi a negra Juvi apertando as mãos sobre o peito enorme, a boca muito aberta, o rosto molhado. — Ah, ioiozinho, ah, ioiozinho, Ioiô, Ioiô, Ioiô! Claro, o velho tinha morrido. Sabia-se que ia morrer há muito tempo, ele mesmo vivia falando nisso. Continuava a trabalhar, mas nunca mais saíra de casa e, desde a morte de Carlota Borromeia, passara a comer ainda menos do que antes. Muitas vezes tomava apenas chá o dia todo, outras vezes apenas almoçava meia posta de peixe frito e jantava um pãozinho com leite diluído. Nem discutia mais, quando o instavam a comer. Parecia escutar com atenção tudo o que lhe diziam, mas depois não respondia nada, como quem recebeu por missão divina inanir-se. O cabelo deu para ficar cada vez mais ralo, a pele muito branca e macilenta, o nariz encompridou, a voz tornou-se roufenha e débil, os movimentos passaram a ser lentos como os de um velho com vinte ou trinta anos mais que ele. Tinha que morrer. Bonifácio Odulfo arrumou a pilha de plaquetas sobre o aparador da sala, foi para o quarto do pai, sentou-se na cadeira da penteadeira da mãe, defronte do vidro de extrato de babosa, e lá ficou sem se mexer ou falar até a hora do enterro. Nos dias que se seguiram, não saiu de casa, conversou pouco, mandou dizer que não estava a muitos dos amigos que o procuraram. Quando o consultavam sobre alguma providência, pedia que por favor falassem com o monsenhor Clemente André, com o Dr. Noêmio, com o Dr. Vasco Miguel, alguém assim. Chegou a preocupar as negras da casa, os parentes e aderentes, que nunca imaginaram como ele ia sentir a morte do pai, levando dias seguidos em silêncio, ensimesmado, ausente, distraído, sempre trancado em seu quarto ou sentado à escrivaninha do gabinete, a mesma em que o velho trabalhara até o fim da vida. Reunidos nesse mesmo gabinete para discutir os problemas do inventário, o Dr. Noêmio, Clemente André, Vasco Miguel e o tabelião Pôncio Nogueira pensaram que apenas interromperiam por um instante a conversa, ao entrar na sala Bonifácio Odulfo, porque naturalmente esperavam que ele viesse apenas para dar uma desculpa por não desejar participar da discussão. Foi, portanto, com muita surpresa que o ouviram falar. — Os senhores não podem realizar esta reunião sem a minha presença — disse ele. — Considero isto um desrespeito e uma porta aberta para o esbulho de meus direitos. Como? Esbulho? Que queria dizer? Por que falava assim, se, pelo seu comportamento, era lícito supor que não se interessaria em comparecer? Se, durante toda sua vida, limitara o interesse nos negócios do pai ao recebimento da mesada e ao pagamento de suas edições, professando mesmo violento desprezo por tudo o que se ligava ao comércio, à produção e ao dinheiro, jurando eterna aversão ao que não fosse arte e poesia? — Isto são desculpas, uma fileira de non sequiturs insustentáveis — respondeu ele, juntando as pontas dos dedos como fazia o pai, curvando o pescoço da mesma forma e falando na mesma entonação levemente pretensiosa, a ponto de por um instante passar pela cabeça de todos a ideia de que estavam vendo um fantasma. — O fato é que sou herdeiro, interessado no inventário, corresponsável pelos vastíssimos bens que constituem o patrimônio deixado por
meu pai, tendo o direito e o dever de saber tudo o que se passa e em tudo opinar. Além disso, considerando as circunstâncias especiais que envolvem os herdeiros diretos, ou seja, considerando que o meu irmão mais velho, monsenhor Clemente André, se entregou vitaliciamente ao sacerdócio e ao magistério e o meu irmão mais moço, capitão Patrício Macário, faz carreira militar e agora mesmo se encontra na frente de combate do Mato Grosso, o mais indicado para suceder o comendador Amleto Henrique Nobre Ferreira-Dutton sou eu, bacharel Bonifácio Odulfo Nobre dos Reis Ferreira-Dutton. Ainda mais que — e fez uma longa pausa, passeando o olhar em círculo sobre os presentes — fide, sed cui, vide, sábio preceito antigo, não é mesmo? Surpreendera-os, sim, e mais surpresas se seguiram. No escritório central, a disciplina se tornou rígida, a austeridade vigente no tempo de Amleto duplicou-se. Em casa, a par de rigoroso controle da economia doméstica e punições severas para os negros que quebrassem algum objeto ou causassem algum desperdício, instalou-se um clima cerimonioso, em que a intimidade ou a excessiva alacridade eram considerados inaceitáveis. Sua aparência se alterou tanto que muitos amigos dos tempos boêmios não o reconheceriam se o vissem, eventualidade, aliás, improvável, mesmo se o procurassem, pois ele recusou-se a receber os dois ou três que quiseram visitá-lo, embora tivesse mandado a um deles um envelope com dinheiro e um bilhete advertindo que aquela era a última ajuda que podia dar. Aparou o cabelo, ajeitou a barba à la Príncipe Albert, passou a trajar-se exclusivamente de preto e abandonou a respiração tossegosa que, entre os amigos, empregava para convencê-los da debilidade de seus pulmões. Finalmente, demonstrou ser homem de negócios ainda mais arguto e frio do que o pai, dominando em menos de três meses todos os aspectos necessários à boa administração das firmas e, em menos de um ano, conseguindo resultados antes considerados quiméricos. A única atividade do antigo Bonifácio Odulfo em que continuou foi a poesia, pois, nos raros momentos de amenidade que se permitia na companhia de seus associados, admitia, fingindo relutância, que ela estava em seu sangue, era uma chama que não se apagava. Mas agora não mais editava plaquetas, nem sequer mostrava ou declamava seus poemas, preferindo guardá-los para publicá-los, talvez sob pseudônimo, num volume sério, de cuja edição cuidaria pessoalmente. Em segredo, também cultivava um gênero que denominava de erótico-fescenino, alimentando vagas fantasias solitárias de algum dia, até mesmo depois de morto, armar um plano qualquer para imprimir uma seleção dessa sua poesia. E, nas horas vagas em que se trancava no gabinete, estudava Inglês e decorava brocardos e citações latinas, tomando chá e comendo muffins recheados com passas. A romaria das condolências parecia finalmente haver terminado, encerraram-se misericordiosamente os apertões, os abraços, as caras chorosas, as frases de praxe. O monsenhor Clemente André, já sem os paramentos solenes mas muito elegante numa batina francesa, saiu da sacristia, beijou os sobrinhos, recebeu cumprimentos de Vasco Miguel pelo sermão, estreitou as mãos de Bonifácio Odulfo. — Trabalhas hoje? — perguntou. — Decerto que sim. Hoje é um dia como outro qualquer. Exceto, é claro, pelo atraso na abertura do expediente devido a esta missa. Mas já estou de saída, que queres? — É sobre a questão do pavilhão novo dos órfãos.
— Meu querido monsenhor, sei que aspiras à santidade e que vives para as chamadas boas obras, mas já pensaste que podes levar a família à ruína com tua munificência? — Ah, não exageres. E, além disso, o pavilhão já está praticamente concluído, só faltam mesmo as telhas. — Concluído inteiramente às nossas custas, construído inteiramente às nossas custas. Não haverá outras firmas na Bahia interessadas em praticar a caridade? Já não digo tanto quanto nós, pois a praticamos de forma astronômica. — Mas são só as telhas, não é muita coisa. — Está bem, mas falo sério: temos de pôr um cobro nisto. Se te fosse debitar tudo o que já retiraste em nome de teus rapazes desprotegidos, já serias hoje um padre pobre, e adeus batinas romanas. — Francesas. Gostas? — Deixa-te de frivolidades, comporta-te de acordo com a tua posição, a nossa posição. Estou falando sério, não me tornes ainda mais pesado o fardo que carrego, tendo que estar à frente de todos os negócios, sem um minuto de descanso ou sossego, enquanto tu fazes as tuas caridades, o Patrício Macário cobre-se de sangue e medalhas e o Dr. Vasco Miguel passa a vida a escrevinhar ofícios e memorandos e a escarafunchar continhas. — Desculpa-me, vai. Prometo-te que conversarei contigo antes de envolver-me em qualquer outra despesa. — Mesmo que não prometas, é o que terás de fazer. Presido firmas comerciais e financeiras, sou um membro responsável da classe produtora, não estou dirigindo um bazar. — Sim, estou ciente, tens razão. Mas como faço para obter o dinheiro das telhas? Procuro-te no escritório mais tarde? — Não, só irias atrapalhar-me, tenho os horários todos tomados. Em vez do dinheiro, faço melhor, dou-te as telhas. — Mas não seria mais simples o dinheiro? Assim, eu mesmo teria o trabalho de comprar as telhas, facilitaria tudo para ti. — Acredita, meu querido irmão, ninguém facilita coisa alguma para mim, eu mesmo as facilito. Podes ter certeza de que estou a te dar as telhas da maneira mais fácil para mim. Não queres mais as telhas? Estás a nenhum? Que fazes da tua retirada, olha que não é pequena, hem? Custam-te demais tuas batinas francesas? — Não precisas falar assim. Apesar de irmãos, havemos que conservar o respeito mútuo. — É precisamente o que acho. Compreendes? Bem, quanto às telhas, para que não percamos mais tempo: procura o teu tio Emídio no Empório Central e diz-lhe que te entendeste comigo a que aprovo a doação das telhas. Doação, não; venda. — Mas como? Não entendi. — Claro que não entendeste, entendes tanto disto quanto eu dos teus eucológios. O que quero dizer é que ele te dará as telhas e também um recibo e uma nota do fisco, como se tu as tivesses comprado. — Mas, se as dás, para que queres fingir que as vendeste? — Às vezes há necessidade desse tipo de coisa, seria complicado demais, além de
inútil, explicar-te. Despediu-se do irmão com impaciência, beijou também os sobrinhos, perguntou a Vasco Miguel se não o acompanharia ao escritório, para poupar tempo. Iriam na sua carruagem, mandariam a dele com as crianças de volta à casa. Vasco Miguel concordou, saíram juntos, entraram no coche, recostaram-se um defronte do outro nos largos assentos estofados, Bonifácio Odulfo cerrou as cortinas das janelas, deixando somente a claridade da abertura da capota entrar. Beliscou a pele entre as sobrancelhas prolongadamente, os olhos fechados, a cabeça baixa, o braço direito aninhado no tronco. Talvez não tivesse necessidade de conversar com o cunhado durante o longo trajeto, marcado pelo balanço das rodas no calçamento esburacado e pela percussão sincopada das ferraduras dos cavalos, talvez pudesse ficar em silêncio, como preferia. Se não falasse, tampouco ele falaria, pois, em sua atitude costumeira, mãos gorduchas cruzadas sobre a barriga, boca levemente aberta, lábios úmidos, olhos inexpressivos e bochechas pendidas, não parecia nunca pensar, mas estar sempre como um relógio sem corda, esperando indiferente que alguém o acionasse. No entanto, ao permanecer por tanto tempo calado, Bonifácio Odulfo não pôde evitar uma associação de ideias que o levou a mais uma vez irritar-se com o cunhado. Estava pensando inicialmente em como era estranho e ao mesmo tempo exasperante, não sabia por quê, que um homem culto como seu irmão padre nem sequer intuísse a necessidade, que se pode ter, de fingir o ingresso de certo dinheiro para encobrir a saída ou ingresso de outro, não tão fácil de registrar sem risco. Que burrice, pensou, a maior parte dos homens realmente não parece ter imaginação, raciocínio, discernimento, visão. Sim, visão, coisa que falta, como tantas outras, a este que quase dormita aí em frente. — Como estão os contactos com os bancos estrangeiros? — perguntou de repente, já no tom áspero de quem espera uma resposta decepcionante. — Que contactos com bancos estrangeiros? — Dr. Vasco Miguel, lembro perfeitamente que, na segunda-feira que passou, em reunião do Conselho do Banco, referi-me exaustivamente às oportunidades criadas por esse conflito com o Paraguai. Nossas tropas nem fardamento possuem, quanto mais os imensos recursos materiais para sustentar a guerra. Estão, mesmo contando com os tais aliados, que não significam muita coisa, inferiorizados em número e muitíssimo inferiorizados em equipamento militar. Recordo que falei no que isto significa, não falei? — Falou, sim, falou. Não era necessário lembrar-me, tenho perfeita lembrança disso. — E o que é que eu falei? — Falou que isto significa que haverá necessidade de financiamentos gigantescos, por parte do Governo. Sei-o bem. — Não parece que sabe. Se sabe, por que não apressou os contactos com os bancos estrangeiros? Com os nossos correspondentes? — Não vi razão para isso. E ainda não vejo. — Mas, por Maria Santíssima, o Dr. Vasco Miguel ouviu tudo o que eu disse na reunião, tudo o que acabo de dizer, ouviu? Ouviu? — Ouvi, naturalmente que ouvi. Mas não percebo a relação entre uma coisa e outra. — Não percebe. Essa campanha do Paraguai vai prolongar-se por muito mais tempo do que se pensa, tenho a certeza de que será duríssima, pelas mesmas razões a que já aludi. E
como podemos participar das oportunidades bancárias surgidas, se não através da participação em financiamentos externos? Como agentes desses financiamentos, como intermediários! Ou crê que temos no Banco recursos suficientes para financiar a campanha do Paraguai? — Sim, efetivamente, tem razão. Vou providenciar isto imediatamente, assim que chegar. — E não se esqueça de pedir informações sobre as compras de material dos aliados e dos paraguaios. — Vamos financiar os paraguaios? — Evidente que não. Podemos financiar os seus fornecedores. Alguns deles são também nossos clientes no exterior. Isto pode propiciar uma série de transações interessantíssimas, inovadoras mesmo, uma rede intrincada e sutil, que só o talento de um grande banqueiro pode conceber. E eu acho que, mercê de Deus, tenho esse talento. — Isso eu também acho. É para isso que os bancos têm que ter presidentes, não é mesmo? Até por força da minha área de atividade, eu não poderia antecipar que... Bonifácio Odulfo se apaziguou, fez um gesto conciliatório com a mão, calou-se de novo. Não porque tivesse passado de todo a irritação, mas porque, ao mencionar o que chamara de transações interessantíssimas, lembrou algo em que vinha pensando havia dois dias. Algo que batizou com o nome secreto de “jogo de três bicos”, em que visualizava uma inter-relação complexa entre três participantes de uma operação financeira. Três não, quatro, certamente. Recostou-se, deleitado pela clareza com que via todas as possibilidades, num requintado entrelaçamento que comparou às camas de gato que Amleto, agora entendia por quê, tinha como única diversão em seus últimos meses. Podia explicar o que pensava ao outro, mas aquela zebra não ia bispar coisa nenhuma, ele mesmo cuidaria de tudo. — Você joga xadrez? — perguntou, olhando enviezado para Vasco Miguel. — Não. — Foi o que eu pensei. Sentiu que o cocheiro estava apertando as tamancas das rodas, já devia ser a descida da ladeira da Montanha. Abriu uma fresta entre as cortinas, olhou o mar lá embaixo, o Forte de São Marcelo castanho e circular no meio da água parada, as torres da Conceição da Praia faiscando na soalheira. Perdeu-se um pouco na paisagem, talvez sentindo o bafo cálido da inspiração poética, certamente sentindo alguma paz. Porque não era ele, era Patrício Macário que, muito longe dali, quase à mesma hora em que ele rezava na Sé, baixava ao chão à cornetada de “corpos ajoelhados” e fazia a oração à Virgem das Batalhas, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, junto a outros oficiais e praças, a maior parte dos quais morrerá amanhã, ali mesmo nos alagadiços de um lugar chamado Tuiuti.
Denodada Vila de Itaparica, 11 de março de 1866.
Desgosto é assim, desgosto mata. O velho João Popó se acamou pela quarta vez desde mais ou
menos novembro do ano passado e, desta vez, há quem garanta que ele não se safa. O homem está uma sombra do que era, está irreconhecível, um espetáculo triste de se ver, especialmente para quem o conheceu, mesmo velho, cheio de vigor, andar enérgico, voz calorosa, maneiras afirmativas. Qual o quê, arrasta-se pelos cantos quando vai à rua, não levanta as vistas, fala como se não tivesse forças para abrir a boca, vai para onde o levam, não reage a nada. E, agora na cama, embora de mais alarmante só tenha uma febrícula que vem e vai, não quer comer, não quer beber, não quer dormir, não quer fazer nada, só quer ficar com os olhos pregados no teto, rezando pelo velho rosário que herdou da mãe. Itaparica, naturalmente, vai ao combate, não ia ficar de fora numa hora destas. Ao contrário do que se poderia esperar em outra terra, o problema foi conter o ardor dos voluntários, pois que a expedição insulana — a Segunda Companhia de Zuavos dos Voluntários da Pátria — tivera sua formação custeada inteiramente pelos fundos patrióticos levantados entre os cidadãos da vila, inclusive o próprio João Popó, e tal circunstância havia que limitar o recrutamento. Mas custou bem mais recusar os exaltados, que não se conformavam em ser excluídos e ameaçavam cometer os piores desatinos, se não embarcassem para a defesa do Brasil. Os mais obstinados ou mais felizes arranjaram padrinhos que lhes pagassem o fardamento e demais apetrechos, além de movimentar influência política para conseguir vagas. Mesmo assim, muitos ficaram de fora e, revoltados, já pensavam em organizar outra companhia, fazer qualquer coisa para ir à guerra, porque todos achavam que deviam ir à guerra. Todos, quer dizer, menos os muitos filhos de João Popó. Se, no Sete de Janeiro de 65, fora ele o primeiro a conclamar a massa a pegar em armas pela Nação, talvez, para honra sua, no mesmo instante sacrossanto em que se criavam os Voluntários da Pátria; se fora ele o primeiro a desdobrar-se, movendo céus e terra, para organizar a participação itaparicana no conflito, incansável em sua pregação, inquebrantável em sua determinação, inarredável em seu fervor; se fora ele, enfim, que, em nome da própria honra, oferecera seus filhos em holocausto, fora ele também que, depois de tanta honra, se vira subitamente despojado dela, acabrunhado, abatido, derrotado. Numa palavra: desmoralizado. Desde o 10 de outubro que se criara a nova companhia. No mesmo dia, os que se apresentaram já eram superiores em número às vagas previstas. Mas os filhos de João Popó não se apresentaram nesse dia, nem em nenhum outro dia, nenhum dos filhos de João Popó com nenhuma de suas mulheres presentes ou passadas, nenhum, nenhum, nenhum, nem um só para remédio. No começo, tentou disfarçar, dava a entender que era uma questão de tempo, enquanto as famílias resolviam quem deveria partir. Chegou a insinuar que havia ciumeira entre os filhos, porque todos queriam ir e isto não seria possível, daí a razão da demora. Mas logo foi obrigado a desistir de mentir, pois a verdade passou a ser conhecida por todos na vila e mesmo nas outras partes da ilha. Não havia modo de escondê-la — e ele caiu de cama pela primeira vez. Convalescido, reiniciou com novo ímpeto a campanha para convencer um filho a engajar-se. Os filhos de Candinha foram os primeiros que ele procurou persuadir. Lafayette Popó afirmou que já estava muito velho para combater e, além disso, suas muitas responsabilidades no momento o impediam de assumir novos compromissos. Se Lafayette, que
era o quarto filho, estava velho demais, que não diriam os três primeiros? Disseram a mesma coisa, acrescentando com desfaçatez que só eram heróis e generais nos nomes. Depois vinham as mulheres, que nasceram encarreiradas, depois vinha o único da última fornada já em idade de servir, Franklin Popó. Mas Candinha, aos prantos e lamentos, disse que, se Sóror Joana Angélica fora transfixada pela ignóbil baioneta lusitana, bem que ela, Candinha, podia ser trespassada pelo cruel punhal do marido, se ele insistisse em levar o adorado menino, encanto de sua velhice, para morrer ou aleijar-se na guerra. Mais tarde, João Popó descobriu que o próprio Franklin, também aos prantos, fora quem suplicara à mãe para tomar essa posição extremada — e caiu de cama pela segunda vez. Levantando-se depois de, segundo a opinião de alguns, ter pendulado entre a vida e a morte, procurou os filhos de Rufina, mas nem pôde entender-se direito com ela, porque ela só admitia esse tipo de conversa depois de acertados os complexos problemas da herança e dos legados que João Popó devia fazer a seus descendentes naturais ainda em vida. E que disseram os filhos de Iaiá Menina? Disseram o mesmo, assim como os de Laurinda, os de Maria Zezé, os de Maria Pataca. E, além do mais, por que só eles tinham de ir e não os legítimos? Só porque eram legítimos? Já não bastava tanto privilégio, ainda queriam mais? O velho esbravejou, estrebuchou, ameaçou e nada adiantou. Chegou a cortar o fornecimento de comida a todos, mas os filhos e as mulheres iam aos armazéns quando ele não estava e tiravam os gêneros à força, sem que os escravos e empregados pudessem resistir. Um de seus filhos mulatos, Ranulfo Popó, apareceu não se sabe de onde e se ofereceu para apresentar-se, mas impunha algumas condições, entre as quais mesada substanciosa e vitalícia, a casa da Encarnação e o sítio da Ponta do Trilho. Indignado por ver naquilo o pior dos crimes e pecados, a prostituição do amor à Pátria, João Popó teve um acesso de tristeza que o deixou quase prostrado. Uma noite, durante esse período, procurou-o Luiz Popó completamente bêbado e, depois de pronunciar um discurso ininteligível com gestos que pareciam tentativas de agarrar borboletas invisíveis, disse que iria para o Paraguai, iria naquela hora mesmo, coisa que não fez por diversas razões, a principal das quais foi que caiu no chão ali mesmo e só foi acordar no dia seguinte, sem se lembrar de nada — e João Popó baixou ao leito pela terceira vez. Não acreditavam que resistisse. Rompeu o ano novo quase desacordado, mas, milagrosamente, reergueu-se a tempo de participar dos festejos do Sete de Janeiro. Candinha o desaconselhou, os amigos mais chegados tentaram dissuadi-lo, mas ele insistiu. Ponderaram que, além da situação criada com a ausência de voluntariado numa das proles mais numerosas da ilha, ainda mais diante daquela solene promessa, havia a questão provocada pelos distúrbios de que participara Zé Popó, nas celebrações do ano anterior. Com efeito, disfarçados de caboclos do préstito cívico, os bandoleiros que se intitulam Milicianos do Povo aproveitaram o clima de festa para tomar de assalto a Coletoria e levar o produto da arrecadação. Não contentes com isso, obrigaram o coletor a assinar um documento no qual reconhecia que embolsava a maior parte do arrecadado e que vinha furtando e achacando os contribuintes, calculando os impostos leoninamente e acatando os mais diversos tipos de suborno. Ainda não contentes, distribuíram panfletos em que perguntavam se era possível haver um país independente em que o povo era escravo e os senhores empregados do estrangeiro. Perguntaram também se iam ao Paraguai lutar para defender um país que não era
dos que iam lutar, mas do que os enviavam à luta e permaneciam em casa, escrevendo poemas, fazendo discursos e ficando cada vez mais ricos. Perguntaram se havia escravos no Paraguai, se havia pobres miseráveis no Paraguai. Se havia, de pouca glória seria a luta, pois um dono de escravo era igual a outro dono de escravo, não importava que língua falasse ou que cor tivesse, e não cabe ao escravo que se considera, não escravo, mas gente, lutar por este ou aquele senhor, mas contra todos os senhores. Se não havia, por que lutar contra um povo livre, a favor de senhores de escravos e exploradores? Se havia, também por que lutar, já que a luta é aqui, não lá fora? E, finalmente, ainda não contentes com tudo isso, pintaram as paredes dos sobrados e os muros das casas com letras sesquipedais que diziam “viva nós, viva o povo brasileiro, viva nós, viva o povo brasileiro que um dia se achará, viva nós que não somos de ninguém, viva nós que queremos liberdade para nós e não para os nossos donos”. E mais coisas hão de ter aprontado, com Zé Popó virado no Cão, quase nu na sua tanga de penas de espanador, pintando os canecos por toda a vila. Sim, João Popó lembrava muito bem disso tudo e até de mais coisas, que nunca contaria a ninguém. Zé Popó tivera o topete de pular o muro da casa de Menina, onde o velho estava dormindo com Laurinda e por sinal ocupado, abrir a janela do quarto, olhar para dentro, dar uma risada e cacarejar “bença, pai”. João Popó tomou o pior susto de sua vida, mas ainda teve tempo de levantar-se, as ceroulas caindo pelo meio das canelas, e apostrofar o filho indigno como ele merecia, apesar de, a essa altura se escafedendo pelos matos, ele provavelmente não ter ouvido nada. O desastre completou-se com sua subsequente incapacidade de voltar ao que estava fazendo com Laurinda, a segunda vez em que isso lhe acontecia em todos os seus anos de existência. A primeira fora logo nos primeiros meses de casamento, quando Candinha, em meio ao ato amoroso, deixou escapar um obsceníssimo gemido, que o pôs sem ação toda a noite e traumatizado durante muito tempo, por nunca haver imaginado ser possível esse tipo de conduta, em mulher aparentemente tão virtuosa. Mas naquela ocasião a razão estivera do seu lado, a vergonha era de Candinha, não dele. Que homem sério suportaria a desconfiança gerada por aquele gemido que ela, felizmente, nunca mais tivera a ousadia de repetir? Da segunda vez, não, da segunda vez a obrigação dele teria sido, superado o incidente, agir como homem e voltar a enfiar-se em Laurinda com a mesma disposição. Isto, contudo, não foi possível e João Popó, já de camisolão, passou a noite em claro andando pela casa, amaldiçoando o filho e resmungando uma simpatia forte para recobrar o ânimo viril, sem resultado. Sim, tinha atravessado todas essas provações, mas não passaria recibo aos inimigos e despeitados. Antes morrer do que não comparecer aos festejos que eram parte de sua própria alma, eram de certa maneira sinônimo de sua vida. Mandou chamar Militão, ordenou-lhe que levasse os cordeiros para as pessoas de sempre, tomou um banho de corpo inteiro, penteou-se cuidadosamente, vestiu a melhor roupa e foi para a Câmara Municipal, recusando a companhia de Labatut, Washington e Cochrane. Lá chegando, ignorou com altivez olhares e cochichos e, franqueada a palavra aos oradores populares, levantou a mão e se encaminhou para a tribuna de onde tantas vezes saíra sob as mais ferventes ovações. Mas não pôde nem começar a falar, submergido na maior vaia que já se ouvira em toda a ilha, apesar dos apelos à ordem, não muito convictos, feitos pelo presidente da Casa. Reagiu, levantou a voz o quanto pôde,
ameaçou descer para atracar-se com os apupadores mais próximos. — Canalhas! Eu sou é homem! Patifes! Venham um a um, venham um a um, canalhas! Em meio a um tumulto incontrolável, desceu da tribuna amparado por dois ou três amigos, que, depois de muito trabalho e gritaria, conseguiram levá-lo para casa. Mas ele terminou por correr destrambelhado porta afora, para tentar invadir a casinha onde o 2° cadete Mirabeau José fazia os alistamentos. Só que era domingo e o cadete se encontrava noivando na sala de visitas de seu futuro sogro, o escrivão João Bizarria. Isto não deteve João Popó, que entrou como um redemoinho ensandecido na casa de João Bizarria e, caindo de joelhos, os cabelos desgrenhados, a roupa em desalinho, os olhos saltando para fora da cara, implorou entre soluços altíssimos que o alistassem, que o levassem para combater. Daria dinheiro, daria todos os seus bens, faria qualquer coisa, ainda estava em melhores condições que muitos jovens, pois os homens de seu tempo tinham mais fibra. Pelo amor de Deus, pelos galões sagrados da farda do cadete, por tudo no mundo, permitissem que ele se alistasse, em qualquer situação, em qualquer posto, para qualquer tarefa, desde que estivesse na frente de combate, não podia suportar a vergonha de ver o Brasil ameaçado sem que um só dos Popós se levantasse para oferecer o sangue em sua defesa. Só conseguiram retirá-lo dali arrastado, o choro transformado em uivos, o juízo carbonizado pelo fogo da paixão, o corpo combalido pela força de tanta contrariedade — e ficou de cama pela quarta vez. Agora, neste outro domingo tão pouco parecido com aquele, João Popó talvez esteja começando a agonizar, no leito em que não se desgruda do rosário, nem responde ao que lhe falam. Tentam esconder-lhe as notícias, mas ele sabe de tudo. Sempre há os perversos que vêm fazer comentários em voz propositadamente alta, debaixo da janela de seu quarto. Sempre há as visitas que chegam para desfrutar do prazer que a maior parte das pessoas tem em dar más notícias e presenciar acontecimentos fatídicos. Ele sabe que já atracou o famoso vapor União, que levará a Segunda Companhia de Zuavos para a guerra. Sabe que há festas para os futuros combatentes, há namoradas, noivas, esposas e mães chorosas porém orgulhosas, há bandas de música ensaiando, gente enfeitando a rua com bandeirolas, mulheres acabando de bordar estandartes e bandeiras, rapazes antecipando a matança dos inimigos, homens já se apresentando como pais dos heróis mais façanhudos. Sabe também que, ao longo dos quebramares da Ponta das Baleias, envolvidas pela brisa que já beijara tantas faces imortais, as mães dos voluntários plantaram mudinhas de tamarindeiros, uma para cada filho a embarcar, a fim de que essas árvores de madeira nobre e perene, de crescimento pausado e porte imponente, estejam para sempre ali, mesmo que não regressem aqueles de quem servirão sempre de memento. Sabe de tudo e por isso chora um pouco, querendo morrer na companhia do seu rosário, por cujas contas acaba de iniciar a ducentésima-nona Ave-maria. O embarque foi marcado para a quarta-feira, dia 14, já está tudo certo, já está tudo pronto, não haverá Popós no Paraguai, em breve não haverá mais João Popó. Não se pode nem dizer que a consternação da família estivesse à altura de perda tão grande quanto a de João Popó. Afinal, ele já estava ficando velho mesmo, vinha quebrando muito ultimamente e, nessa idade, a morte é muitas vezes um descanso, de nada adianta viver sem saúde, a pessoa tem de se conformar com o destino, a vida é assim, quem está vivo está morto, não é mesmo? Candinha, justiça seja feita, se desvelava em cuidados com o doente, estava sempre a oferecer um chazinho ou uma papinha que ele recusava, ficava ao lado dele a
maior parte do tempo, mas ninguém ouviu dela, durante todo esse transe, um gemido de aflição, ou viu uma lágrima de apreensão. Iaiá Menina aparecia para saber dele todos os dias, mas não entrava no quarto e, como também não se dava com a irmã, limitava-se a resmungar algumas perguntas às negras, benzer-se e voltar para casa em seu passinho duro. Quanto às outras famílias que ele sustenta e seus parentes e aderentes, não pareciam muito afetados pela situação. De início, ainda comentavam o assunto, revelavam preocupação, até mesmo tristeza. Mas logo se acostumaram e passaram a viver como sempre, cada qual entregue à sua ocupação ou desocupação, tal indiferença acrescentando um tom cruel de melancolia ao ocaso inglório de João Popó. Melancolia que pode ser acrescida de amargor e escândalo, se se der crédito ao rumor de acordo com o qual Coquinho, Ostinho e Labinha — Cochrane, Washington e Labatut, na intimidade —, bebendo numa taverna da Bahia, chegaram a discutir abertamente a divisão do espólio do velho, pois Coquinho tinha convicção, secundado fortemente por Labinha, o qual ajudava na tarefa de abrir os olhos de Ostinho para as verdades duras da vida, de que Lafayette já estava com um plano armado para ficar com praticamente tudo, até os ouros pessoais do velho. Se duvidassem, lembrassem o caso do crucifixo de ouro e rubis, em que ninguém mais havia posto os olhos depois que Lafayette o tomara emprestado, alegando a necessidade de abrilhantar uma cerimônia religiosa; lembrassem o caso dos castiçais de prata portuguesa lavrada, da bengala de marfim com cabo de ouro, do correntão, de tantos outros que já se confundiam na memória da família. Coquinho se exaltou. Farinha pouca, meu pirão primeiro! — teria exclamado grosseiramente, para, em seguida, expor uma elaborada rota de ação, que envolvia a participação de um advogado da Bahia, para apreciar a validade de fazer o velho assinar alguns papéis antes de bater as botas e, naturalmente, indicar quais seriam a natureza e os termos desses papéis. Isso implicava em muito trabalho, havia levantamentos a fazer, investigações, sindicâncias, avaliações — e tudo sigilosamente, de forma a não despertar atenção. Portanto, não podiam perder tempo, pois não seriam eles os únicos a ter miolos e ambição entre os inúmeros herdeiros, conhecidos e desconhecidos, de João Popó, cuja condição precária sublinhava a necessidade de medidas urgentes. Se se trata ou não de um falso, não se pode afirmar sem provas, mas o fato é que Cochrane Popó passou a frequentar com assiduidade o escritório do Dr. José Miranda, bacharel reputado por sua habilidade em organizar falcatruas, estelionatos, falsidades ideológicas, burlas, tramoias e até mesmo furtos de certo requinte. Frequência tão a cote só podia significar interesses em comum, interesses estes que talvez se estivessem materializando nuns papéis que Cochrane, raramente Labatut, nunca Washington, levava de ida e volta entre a ilha e a Bahia, em viagens cada vez mais amiudadas. Carregava-os nas algibeiras internas de uma grossa sobrecasaca preta e decerto lhe causavam algum frio, porque, toda vez que chegava, sempre à noite, trazendo papéis consigo, a sobrecasaca vinha abotoada de cima abaixo, as mãos nos bolsos das calças de maneira deseducada se não fosse por parecer que se tratava de uma pessoa que não se sentia bem, os ombros encolhidos, o chapéu enterrado até o pescoço, a cara na sombra, praticamente embuçado, a ponto de muita gente só o reconhecer na penumbra pelo andar dos Popós, igual ao do pai, meio puladinho. O novo hábito logo chamou a atenção na vila e a hipótese mais corrente é a de que ele dera para beber na companhia de
uma rapariga que arranjara na Bahia, por causa da vergonha já praticamente fatal que causara ao pai e, quando bebe, fica assim, devendo pegar tuberculose mais dia menos dia. De vez em quando, alguém não se contém e, ao vê-lo apontar todo abroquelado na ponta da rua, grita que lá vem o lobisomem, o tutu marambá, o Cão preto e assim por diante, mas ele não dá importância e segue seu caminho sem responder. Como Deus escreve certo por linhas tortas, foi justamente por causa dessa prática que Zé Popó conseguiu fazer com facilidade o que veio fazer na ilha, neste domingo. Zé Popó veio falar com o pai, veio dizer ao velho que iria para o Paraguai lutar, a honra dele estava salva. Já queria ter vindo há mais tempo, mas era difícil para ele entrar na vila sem que o quisessem prender e, em segundo lugar, hesitara muito em conversar sobre o assunto com Maria da Fé, achava que ela se decepcionaria com ele por querer ir para aquela guerra que de fato não era deles. Mas ela não se decepcionou, disse a ele que entendia perfeitamente. Era até mesmo uma questão de humanidade, de dever para com o velho, que, de acordo com uma notícia ou outra que sempre chegava da ilha, estava passando mal justamente porque nenhum filho se alistara. — Mas não é só por isso — respondeu ele. — É também porque eu quero ir. — Sim, eu sei, essa vontade também me dá — falou ela, para grande espanto dele, que esperava pelo menos uma risada irônica. — Eu sei que é verdade tudo o que pensamos sobre essa guerra e tudo o que pensamos sobre a situação de nossa terra, mas também esta é a nossa terra, é até principalmente nossa, que somos quase todos os que nasceram e vivem nela. Portanto, há alguma coisa nessa guerra que também é nossa, é a nossa terra, ou será um dia a nossa terra. Temos que resolver pelo que nós achamos, pelas nossas ideias, porque isso é necessário, mas não podemos esconder outras coisas, talvez miúdas, mas sempre existentes. Eu também sinto um arrepio quando se fala no Brasil, quando ouço os hinos e vejo o povo levantar os olhos para a bandeira. Pois não é nossa bandeira e é nossa bandeira. Eu é que não posso ir: sou mulher, sou bandida e tenho uma responsabilidade mais importante. Se eu deixar que essas ideias caiam, como vai ser? Mas tu não, tu podes ir, tu tens que viver isso também, lutar pelo que se ama sem se poder amar, pelo que é da gente mas se vira contra a gente, é de quem nos comanda na guerra para nos dominar na paz. É isso mesmo, talvez a vida seja assim, talvez tu aprendas alguma coisa que nos possa ensinar. — Nunca pensei... — Eu já, eu vivo pensando, eu já imaginava que tu ias querer ir, desde o Sete de Janeiro em que nosso pessoal esteve em Itaparica fantasiado de caboclada. E também penso o seguinte: será que, com essa guerra, as coisas não vão melhorar? O Exército tem sido sempre um bando de maltrapilhos desordeiros comandados por estrangeiros que desprezam tudo aqui, recheado de mercenários também estrangeiros, que também tudo desprezam. O Exército, que é de gente do povo, tem sido sempre a pior arma contra o povo, mais do que polícia, mais do que inquisição. E assim mesmo os poderosos maltratam os militares, não os querem receber em suas mansões, não querem suas filhas casadas com eles, não querem seus filhos na companhia deles. Talvez agora o Exército compreenda, depois de sacrificar-se pelos que ficarão em casa engordando, criticando suas ações e lhes enviando ordens impossíveis de cumprir, talvez agora compreenda que não pertence aos senhores, mas ao povo, não é a Guarda Nacional, mas a Guarda do Povo, não é a arma contra o povo, mas a arma para o povo. Talvez agora compreenda que o lado dele é o nosso lado, não o lado daqueles a quem
serve, nem sequer a troco de migalhas, quanto mais da honra de servir seu próprio povo. Muitos deles voltarão heróis, cobertos de glórias e lendas, nenhum deles será mais o mesmo, depois dessa guerra. E tenhamos a esperança de que passem a ser como devem ser, passem a ser o Exército do Povo. Sim, vai, vai lutar no Paraguai, vai alentar teu pai, vai aprender fazendo e vivendo. Eu não tive pai, mas tive meu avô, que foi mais do que um pai, e uma vez ele fez comigo o que estou fazendo contigo agora. Vai, faz, aprende, ensina.
Irmão é irmão e, por mais diferentes, um dentuço, outro boca de chupa-ovo, um louro, outro moreno, um feio, outro bonito, um cambaio, outro com pernas de pavão, um belo dia a germanidade estala e — prrrrim! — olha aí um escritinho o outro, cagado e cuspido, cara de um, cu de outro. Isso mesmo pensou Zé Popó, malocado nos matos e matutando sobre como era que ia fazer, já praticamente noite, para entrar na vila e conversar com o pai. Verdade que a noite ia ser escura, mas aquele povo estava acostumado a distinguir as coisas na escuridão, era preciso inventar um meio de entrar na casa do pai sem ser visto e só sair depois de alistado, quando já não o poderiam prender. E assim pensava sem atinar com nada, já disposto até a ir no peito, quando viu a si mesmo chegando pela beira da praia, do lado da Quinta dos Frades. Sacudiu a cabeça. Que assombração era aquela, toda de preto, toda encolhida, mas parecida com ele de forma tão patente? Escondeu-se atrás de uma touceira ao lado do caminho que a figura deveria percorrer, para ter oportunidade de vê-la bem de perto, ainda que dificilmente fosse poder distinguir-lhe as feições. Mas não precisou distinguir nada, porque, assim que o vulto chegou a umas dez jardas dele, viu logo que só podia ser seu irmão Cochrane Popó. Nunca havia reparado em como eram parecidos, mas eram mesmo, isto se via agora pelo jeito, pelo corpo e pelo andar, e dava para lembrar, das poucas vezes que se tinham encontrado cara a cara, depois de adultos. — Psiu! — fez Zé Popó, saindo de trás da moita. — Uai! — gritou Cochrane, levantando os braços e fazendo menção de correr, embora não conseguisse mexer as pernas. — Uai! — Calma, Coquinho, sou eu. — Eu quem? Ai! Não chegou ainda a minha hora, não chegou a minha hora ainda! — Sou eu, Coquinho, é Zé Popó, teu irmão. — Zé Popó? É Zé Popó mesmo? — É, é, sou eu! — Que susto desgraçado, pensei que era a morte vindo me pegar, pensei que era o diabo, isto não se faz, quase tenho uma síncope! Isto não se faz! — Desculpe, eu não tive a intenção. — Que é que você está fazendo aqui? Está procurando ser preso? Um dias destes eles te pegam e posso garantir que não vão tratar-te a escovadinhas de plumas, posso garantir. Se eu fosse você, ia embora logo, que é que você quer aqui? Até você fica feito urubu, só porque correu a notícia de que o velho está mal? — Está muito mal, o velho? — Está, está. Quer dizer, não se sabe o que ele tem, a febre é muito baixa, não parece
ter doença nenhuma. Mas não come, está muito definhado, agora não sai da cama. — Coitado. Bem, eu quero um favor teu. — Favor meu? — Sim, um favorzinho, não vai te custar nada. — Não sei, não, minha vida é limpa, não quero fazer favores a você, depois me acusam de estar ajudando bandidos, não quero que meu destino seja a forca, como com toda a certeza será o teu. — Ora, deixa de ser um piolho de pentelho! — disse Zé Popó com impaciência e se acercou do irmão. Pouco mais tarde, a figura de Cochrane Popó, do jeito sinistro de sempre, passou pelo Largo da Glória em frente à taverna de Almiro e gritaram lá de dentro: — Olha o papa-defunto! Ele nem se virou, continuou largo acima. Ao contrário do que se esperaria, não dobrou à esquerda para ir para casa, mas pegou o bequinho para entrar na rua do Canal. Andando quase sem fazer barulho, chegou à porta da casa de João Popó, encontrou a porta encostada, marchou pelo corredor adentro e parou na sala de visitas, iluminada somente por um candeeiro de manga de vidro e pelas lamparinas do oratório. — Ô de casa! — gritou batendo palmas e logo uma negrinha assustada chegou à sala, olhou para ele e correu escada acima. — Seu Coquinho tá aí, seu Coquinho tá aí! — ele a ouviu dizer lá em cima. Candinha desceu a escada pouco depois, carregando outro candeeiro e franzindo os olhos. — Que é que tu queres aqui? — perguntou. — Nunca mais apareceste, nunca dás o ar de tua graça nesta casa que abandonaste e agora chegas assim de repente. Que te deu? Não posso te emprestar dinheiro, não me pagaste ainda o que me tomaste da última vez, eu que vivo a amealhar tostões para não deixar faltar nada em casa. — Eu quero ver meu pai. — Agora não vai poder ser, ele finalmente tomou um mingauzinho e parece que vai dormir. — Mas eu preciso. Sem dizer mais nada, pegou o candeeiro de cima da mesa, subiu a escada com Candinha protestando atrás e o responsabilizando duplamente pela morte do pai, se ela viesse a ser precipitada por aquela visita extemporânea. Entrou no quarto sem tirar o chapéu, postouse aos pés da cama do velho, que não estava dormindo, mas quase sentado, as contas do rosário se espraiando pelo colo, os lábios se mexendo fracamente para fazer as orações. Espantou-se quando viu o filho, falou pela primeira vez em muito tempo. — Tu? Que queres aqui? — Vim dizer-te algo importante. — Nada tens a dizer-me de importante, nada tens a dizer-me. Não quero ver-te. — Quem o senhor pensa que eu sou? — Quem tu és: um pulha, um covarde, um moleirão, um vagabundo, que me fez cometer um pecado imperdoável ao pôr-lhe o nome sagrado de Lorde Cochrane! Sai daqui, queres acabar de matar-me? Sai daqui!
— Não sou Coquinho, nem Ostinho, nem Labinha — disse a figura, tirando o chapéu e abrindo a sobrecasaca. — Meu nome é José. — Tu? Vestido com as roupas dele? Que fizeste? Mataste teu irmão? Ai, Senhor dos Desgraçados, por que tanto me martirizais no fim da minha vida? Que terríveis pecados haverei de ter cometido, para que tão duramente me castigueis? — Não matei ninguém, se bem que, se tivesse matado, muita falta ele não haveria de fazer. Só dei uns trompaços nele, porque não queria me emprestar a roupa, mas acho que nem aleijado vai ficar. — Tampouco quero ver-te! Por tua causa... — Vim para dizer ao senhor que vou embarcar para a campanha do Paraguai. Candinha, esbaforida, quase sem forças para chegar à porta, depois de ter descido e subido a escada às carreiras para ir buscar Militão e Boanerges, que dormiam nos quartos do quintal, não acreditou no que viu. Diante dos dois negros, chamados para dominar o invasor, estava, não uma cena de dor e crueldade, mas, quase iluminados por um esplendor vindo não se sabe de onde, quase entre antífonas cantadas pelos dois lados do céu, pai e filho abraçados, rindo e chorando, João Popó lépido como um jovem, Zé Popó, tão grandalhão, parecendo um menino. Candinha desmaiou. Mas João Popó nem notou, porque, com o embarque marcado para dali a dois dias, cumpria mover mundos e fundos para providenciar, nem que fosse roubando, uniforme e equipamento para seu filho e alistá-lo do melhor jeito possível, felizmente há sempre jeito para essas coisas. Porque agora ele sabia que, no dia 14, o peito de pombo estufadíssimo, o vento da Pátria queimando-lhe os pulmões e lhe fazendo arder o coração, a cabeça solta nos ares como um balão festivo, lá estaria ele à beira do cais, sem ligar para as lágrimas que lhe correriam, a levantar o chapéu tão alto quanto pudesse para saudar o heroico filho que, acenando da amurada do União com um sorriso largo, navegava para o campo de luta, um Popó na primeira linha de ataque aos inimigos do Brasil. Quanto a Cochrane Popó, quis o destino ingrato que, ao envergar sua sobrecasaca depois de aplicar-lhe um par de sopapos, Zé Popó levasse consigo alguns dos tais papéis comprometedores, com a consequência de que o velho ficou sabendo de tudo e jurou deserdar os três conspiradores, tão certo quanto havia um filho seu lutando no Paraguai.
14
Acampamento de Tuiuti, 24 de maio de 1866.
Não que ele acreditasse nessas coisas, mas a verdade era que todos os que falavam pelo deus Ifá, o que tudo sabe, sempre disseram a Zé Popó que ele era de Oxóssi. Um belo Oxóssi tinha ele, um belíssimo, simpático e valente Oxóssi, orixá caçador da madrugada, comedor de galo, perito no arco e flecha. Zé Popó não dizia nada, mas todos os babalaôs, todos os balalorixás e ialorixás jogadores de búzios e contas, sem conhecer uns aos outros e sem nunca tê-lo visto antes, diziam sempre que Oxóssi estava perto. Acostumou-se então com o orixá, aprendeu a preferir sua cor azul-clara e descobriu, com grande surpresa, que já de nascença não gostava do que ele não gostava: não gostava de formiga, não gostava de quiabo, não gostava de mel de abelha. Tudo quizila de Oxóssi, mas ele não sabia, só foi saber depois de grande. Enfim, são coisas que podem ser ou podem não ser, só que Zé Popó, primeiro destacado para a faxina da cozinha, mas, logo depois do toque de parada, requisitado para servir como um dos ordenanças do oficial de estado de seu batalhão, passando a primeira parte da manhã sem ter muito o que fazer, percebeu um bulício esquivo nos matos, qualquer coisa viva se agitando — e, não soube por quê, achou que era coisa de Oxóssi, achou até que havia um presságio nas nuvens, que o santo queria avisá-lo de alguma coisa. Ainda mais sendo o dia da semana consagrado a ele, o dia em que — Zé Popó também era obrigado a reconhecer — lhe acontecia a maior parte dos momentos decisivos. Mas estaria aqui mesmo, esse orixá? Que vinha fazer tão longe de seus terreiros e de seu povo, aqui onde não há orixás, mas outras entidades, monstros de cabeças de boi e corpo de serpente com rabo de navalha, segundo contam os homens destas paragens, bem como os argentinos e os orientais? Bem verdade que, diziam os negros vindos mais recentemente da África, Oxóssi era um orixá muito brasileiro, bem mais brasileiro do que africano, pois lá na África se perdia no meio de mais de trezentos outros e muita gente nem se lembrava dele. Assim, não era improvável que tivesse acompanhado seus filhos brasileiros até aqui, para lutar ao lado deles e protegê-los. Zé Popó resolveu que estava pensando bobagens, dando corda demais ao pensamento. Em vez disso, por que não procurava ver para aprender, como aconselhara Maria da Fé? Havia muito o que ver e aprender, até mesmo novas maneiras de falar, até mesmo que baianos não eram só os nascidos na Bahia, mas todos os não nascidos na Província do Sul. Até novas comidas e bebidas, que no princípio repugnam, mas depois ficam gostosas. Sim, muito o que aprender, e Zé Popó olhou para o campo em torno do acampamento: a mata, os alagadiços, as touceiras de plantas esquisitas. As barracas se desdobrando pelo horizonte — quantos homens haveria ali? Milhares e milhares certamente, e grandes generais raramente vistos, em seus uniformes esplêndidos e seu brio lendário, cujos nomes eram sussurrados como os de deuses, pelos soldados conversando à roda das fogueiras, nas noites frias do lugar. Dia bonito, felizmente, dia claro, até podia se dizer cheiroso. Mas os matos, que há nos matos? Se é Oxóssi nos matos, que faz ele nesses matos? Que horas seriam? Aí pelas dez,
talvez onze, Zé Popó pulou para atender a um chamado do oficial e, a caminho, viu um grupo de soldados saindo às carreiras da floresta. — São eles! — gritou um dos soldados. Se mais tarde perguntassem a Zé Popó em que sequência se dera tudo o que aconteceu logo depois, ele não saberia responder, pois de repente chiou e explodiu uma espécie de rojão, soou o toque de chamada ligeira, soldados formigaram de todos os cantos desfazendo os sarilhos como se fossem de palitos, estandartes encheram o ar, os oficiais começaram a gritar e dos matos, dos areais e dos pântanos prorromperam, em meio a uma fuzilaria infernal, a cavalaria e a infantaria paraguaias, uma onda vermelha e acobreada, tornada mais temível pela cintilação cortante de suas longas espadas recurvas. O capitão Patrício Macário, pálido mas muito firme, a voz até mais forte do que de costume, dispôs seus homens em fileira tripla, fazendo fogo sobre um dos flancos da cavalaria inimiga, que havia penetrado na vanguarda central brasileira formando uma espécie de cunha. Zé Popó, um gosto salgado na boca e só conseguindo ver o que estava à sua frente, atendeu à ordem de calar baioneta sem prestar atenção no que fazia, sabendo apenas que devia aguardar um comando para carregar sobre os cavaleiros inimigos, agora atrapalhados pelo terreno atoladiço e separados de seu corpo principal por uma carga dos garibaldinos, que se precipitaram aos berros sobre a ala esquerda, fazendo grande morticínio. O toque para a carga de baioneta disparou sua canção degoladora, toda a banda parecia cantar em uníssono e Zé Popó, correndo como se nunca quisesse parar, lançou-se à frente na primeira leva, apesar do fogo dos infantes paraguaios pela esquerda, em apoio de sua cavalaria cercada. Chegou a ter a sensação de que via as linhas mortais traçadas pelas balas e se esquivava delas, não acreditou que jamais pudesse ser atingido e de repente se defrontou com o primeiro paraguaio que jamais encontrara em sua vida — um rapagão forte, com cara de índio, que não sabia o que fazer em cima de seu cavalo aflito, sem lança e sem espada. Zé Popó nunca houvera imaginado que se poderia, numa guerra como esta, olhar o inimigo nos olhos, mas foi o que fez, fechando os seus no instante em que, com uma estocada para o alto e para a frente, enfiou pelo estômago do outro a baioneta, sentindo o pano romper-se, as entranhas se rasgando e o sangue borbotando até cobrir-lhe os punhos. Ainda esperou que o paraguaio, a boca muito aberta, afrouxasse as mãos que se tinham agarrado aos arreios no momento em que fora ferido, e teria ficado ali olhando somente aquilo muito tempo, quando se deu conta de onde estava e do que precisava fazer para não morrer também. Rodopiou a carabina como se suspeitasse de que alguém o queria matar por trás, viu a cavalaria inimiga recuando e sendo ceifada pelos garibaldinos, enquanto os infantes já corriam em disparada, perseguidos por um grupo de soldados de linha com o capitão Patrício Macário à frente. Alguns companheiros junto a Zé Popó bateram palmas, ele olhou para os lados sem acreditar. Não havia um inimigo por perto, não havia nada a não ser camaradas, até a fuzilaria virara um bramido distante. Tinham ganho a batalha, então, era isso que era uma batalha, já estivera em brigas piores. Reconheceu, de pé à sua esquerda e sorrindo com a mão na aba do boné, Joaquim Leso, da Gameleira, filho do pescador Né Leso, que muitas vezes ajudara Maria da Fé. Ia abraçá-lo, mas, mal tinha dado o primeiro passo no terreno resvaladiço, pareceu ter recebido um esbarrão, um empurrão forte, e escorregou, caindo com o joelho no chão. Procurou quem o teria empurrado, não achou ninguém suficientemente perto, voltou-se a
tempo de ouvir um ronco terrível vindo do matagal e ver a cabeça de Joaquim Leso ser esmigalhada por um projétil que desconhecia. Enganara-se, enganara-se muito, a batalha não terminara, havia apenas começado e a Morte, querendo tocar todas as testas, passou outra vez a encharcar de sangue os campos e banhados. Durante todo o dia a carnificina prosseguiria, onda após onda de homens se chocando entre berros, estampidos e gemidos, ninguém senão a Morte vendo direito o que estava acontecendo, pois que pessoa alguma vê uma batalha, apenas vive sua parte até o fim.
Mas Oxalá, pai dos homens, vê as batalhas. Oxalá tudo vê, e viu também quando seu filho Joaquim Leso teve a cabeça decepada por um obus e nunca mais haveria de encantar a todos na Gameleira com suas maneiras plácidas, seu sorriso amistoso e a confiança que inspirava. Viu também quando seu filho Oxóssi dardejou para fora dos matos, visível somente para ele como um raio azulado, e empurrou Zé Popó para um lado, evitando que o obus o atingisse. Que queria Oxóssi, que fazia, envolvido nessa batalha dos homens, em que muitos bons haveriam de morrer, se estava escrito assim? Logo soube o que queria Oxóssi, ao chegar este à morada de Xangô, o que atira pedras. Xangô resplandecia nas suas cores vermelha e branca e recebeu o irmão com a alegria altiva que só o deixava quando a cólera o possuía. Oxóssi dirigiu-lhe as seguintes palavras: — Ca-uô-ô-ca-biê-si, salve meu grande irmão, Rei de Oió, senhor do raio, senhor da igi-ará, Jacutá, atirador de pedras! Acolá, nos campos de um lugar distante chamado Tuiuti, há uma grande batalha, a maior batalha já vista deste lado do mundo e, nessa batalha, estão morrendo muitos dos nossos filhos mais valorosos, derrubados por um inimigo desapiedado e fortíssimo. Não falta valentia aos nossos filhos, que combatem pela honra carregada no sangue, mas a sorte da porfia é incerta e já temo pela hora em que não reste de pé um só de nossos bravos filhos. Muitas vezes nos bateram as cabeças, cumpriram suas obrigações com sacrifício, deram-nos nossa comida em oferenda. Quem agora me lembrará na madrugada, me dará meu galo e meu cabrito? Quem me saudará à beira da mata? Quem honrará tuas armas, quem fará teus assentamentos, quem te evocará? Não cabe a nós ausentar-nos dessa luta, antes nos metermos nela como se fosse nossa, pois que de fato é. E é por essa razão que chamo o meu irmão Xangô, mestre do fogo e do machado, de orgulho e valentia jamais igualados, para que me acompanhe a essa grande batalha em que morrem nossos filhos mais valorosos, para que, pela força do nosso braço e do nosso engenho, lhe mudemos a feição. O que se apelida Jacutá, o atirador de pedras, agitou sua cabeça grande como um sino e respondeu: — Oquê, Oxóssi, oquê-arô, incomparável caçador da madrugada, rei das matas, senhor da astúcia, imbatível no arco e flecha, muito alegra meu coração ver-te em minha casa! Já me dissera Ifá, o que tudo sabe, que essa grande batalha se travava e que nela morriam meus filhos mais valorosos. Sei bem que não cabe a nós entrar nessas lutas, mas sei igualmente que em muitas delas fomos obrigados a entrar e que muitas vezes, para tristeza nossa, não conseguimos ajudar o nosso povo como gostaríamos. Admiro tua valentia, tenho acompanhado como te enches de poder e importância merecidos, nesta terra em que não nasceste, mas renasceste. Fico orgulhoso em ver-te levantado para ajudar os nossos filhos e
mais orgulhoso ainda em que venhas buscar-me para ir contigo ao campo da batalha. Pois irei contigo ao campo de batalha, levando minhas armas e minha força, e juntos venceremos os que querem matar nossos filhos mais valorosos. Falou assim e levantou-se, sua estatura se comparando à de uma torre e seu olhar quente como cem fogueiras. E logo estava, com seu irmão Oxóssi, campeando pelo terreno incendiado de Tuiuti. O que primeiro fizeram foi entrar pelos corações e cabeças de seus filhos, trazendo-lhes às gargantas os gritos de guerra dos ancestrais, cada Oxóssi mais estonteante, cada Xangô mais irresistível, nenhum sentindo medo, nenhum sentindo dor, todos combatendo como o vento vergando o capim. Xangô viu seu filho Capistrano do Tairu, cercado por três cavaleiros paraguaios nos alagadiços, atirar fora a carabina molhada e emperrada, apoderar-se de uma lança caída e fazer uma careta para um dos inimigos, o qual, esporeando seu cavalo numa manobra que levantou salpicos de água sangrenta por todos os lados, atacou. Xangô apareceu a seu filho e lhe disse: — Capistrano, não foi em vão que fizeste tua cabeça em meu nome, nem que me saudaste em meus dias de festa, nem que te comportaste sempre para honra e grandeza minhas. A comida que me serviste e os animais que abateste para mim, de tudo isso eu tenho boa lembrança. Segura firme tua lança, não temas o inimigo, pois nada teme o bom filho de Xangô. Estou a teu lado e a teu lado combaterei. Ouviu essas palavras e fortaleceu seu ânimo o valente filho das praias mansas do Tairu, onde o peixe é farto e as mulheres amáveis. — Ca-uô-ô-ca-biê-sile, meu grande pai Xangô! Não temi quando muitas vezes me vi sozinho no mar, enfrentando o temporal e os grandes peixes. Nunca conheci o medo e nunca tremi no escuro e não seria agora que tremeria, ainda mais tendo meu grande pai a meu lado. Antes que morra aqui nestes campos estrangeiros e meus parentes façam meu axexê na minha ausência e joguem minhas coisas de preceito na água do rio, eu levo um comigo, não morro por nada. E ninguém me verá virar as costas ou arredar pé daqui. Xangô, uma faísca vermelha e branca incandescente, achou do outro lado, no terreno seco, um outro filho seu, o soldado Presciliano Braz, de Santo Amaro do Catu. Não quis perder tempo em falar-lhe, apenas entrou em sua cabeça e lhe dirigiu o olhar para os dois outros cavaleiros que ameaçavam Capistrano. Presciliano carregou a clavina e, guiado pela mão do santo, acertou um tiro na testa de um dos cavaleiros, cuja montaria saiu em disparada, arrastando-o pelas poças. Logo Xangô já trazia outro cartucho à mão de Presciliano e outra vez lhe orientou a pontaria certeiramente. Feito isto, voou para o lado do cavaleiro que fazia carga contra Capistrano e, no momento em que ele baixava a lança contra seu filho, deu-lhe um sopro de fogo, um sopro tão forte que o desequilibrou na sela, fazendo com que errasse o lançaço e ficasse cravado na arma de Capistrano, quase uma bandeira à ponta do mastro. E por toda parte lutavam Xangô e Oxóssi, ao lado de seus filhos mais valorosos. Mas Oxóssi via que, mesmo com seu esforço e a extraordinária valentia de seu irmão, a posição na batalha não era boa e os perigos aumentavam. Então o grande caçador da madrugada, perito no arco e flecha, foi à morada de seu irmão Ogum, senhor do ferro e da ferramenta, cujo nome é a própria guerra. Lá chegando, falou-lhe da seguinte maneira: — Ogum-ê, ferreiro sem par, senhor da ferramenta, singular no combate, cujo nome é a própria guerra, mais bravo de todos os orixás, eu te saúdo, meu valentíssimo irmão! Num
lugar chamado Tuiuti, agora mesmo, alguns dos nossos filhos mais valorosos estão perecendo em combate desigual, atacados por um inimigo impiedoso. Já lá estamos, nosso irmão Xangô e eu, ajudando nessa porfia, mas nossa ajuda não é suficiente, por mais que eu vare os matos amparando um aqui, outro acolá, e por mais que o nosso irmão Xangô, o que atira pedras, assombre os alagados com sua grande valentia. Eis porque procuro a ajuda de meu insuperável irmão, o grande Ogum, senhor do ferro e das armas, singular no combate, cujo nome é a própria guerra, para que se junte a nós nessa luta e assim não permita que venhamos a perder muitos dos nossos filhos mais valorosos. O orixá da cor azul-marinho franziu a testa, cruzou os braços sobre o largo peito nu e respondeu: — Oquê, Oxóssi, amado irmão, grande caçador da madrugada, hábil no arco e flecha! Dás-me alegria em ver-te na minha casa, mas devo dizer-te, porque não minto, que mais alegria me darias se não viesses nas circunstâncias em que vieste. Não porque me aborreça ir combater, eis que domino todas as armas e ferramentas e meu nome é a própria guerra, mas porque me procurastes somente agora, quando devia ser eu o primeiro a ser chamado. Reconheço o grande valor e a valentia sem par de nosso irmão Xangô, senhor do raio, atirador de pedras, rei de Oió, mas não posso aceitar que me tirem o que é meu por direito e vocação. Com meu braço, a batalha seria vencida e não perderíamos muitos dos nossos filhos mais valorosos, agora prestes a agonizar dolorosamente nesses campos chamados de Tuiuti. Mas esqueceram de mim, quando eu devia ser o primeiro lembrado. Onde bateram a cabeça para mim? Onde está o meu peji? Que animais mataram para mim antes da grande batalha? Quem me pediu que propiciasse bom destino aos ferros dos armamentos? Quem lembrou de mim antes que a batalha se tornasse insustentável, mesmo com a ajuda levada por ti, caçador sem rival, arqueiro sem defeito, e por nosso irmão Xangô, que jamais foi vencido em orgulho e coragem? Estou triste porque se trava essa grande batalha em que morrerão tantos dos nossos filhos mais valorosos, mas não me permite a honra que eu participe dessa batalha. Não me fales mais deste assunto e te peço que, se queres continuar na minha casa, no que me dás grande alegria, não discutas aquilo que não me apetece discutir, pois que sei eu e sabes tu que tenho razão. Falou assim e apertou mais os braços em torno do peito, fechando a expressão de tal forma que as folhas das árvores estremeceram. Oxóssi, caçador de coragem, hábil no arco e flecha, senhor da floresta, também estremeceu diante da ira justa de seu irrepreensível irmão. Mas não desanimou e foi até a casa de Oxalá, pai dos homens. Lá chegando, disse estas palavras: — Rê-pa-babá, Babá-Oxá, Oxalá, pai dos homens, filho de Olorum, senhor da alvura, mais alto entre todos, meu pai, aquele que tem mais nomes! Há muito que este teu filho vem sofrendo, sem nunca procurar-te para pedir qualquer coisa, porque sempre respeitei o meu Destino e procurei compreender que há uma necessidade em tudo o que acontece. Mas agora, num campo desconhecido chamado Tuiuti, muitos dos nossos filhos mais valorosos estão morrendo numa batalha desigual, diante de um inimigo fortíssimo e sem piedade. Eu mesmo e meu irmão Xangô, chamado por mim, estamos lutando nessa batalha, mas nossos esforços não são o bastante para afastar a Morte das testas dos nossos filhos. Agora mesmo, falei com meu
irmão Ogum, senhor do ferro e das armas, cujo nome é a própria guerra e cujo valor está acima de qualquer outro, e ele, por desgosto do orgulho, não aceita ir ao campo de batalha defender os seus porque os considera ingratos, nada podendo demovê-lo de tal decisão. Sei que essa guerra não é nossa, nem nos cabe fazer nada nessas guerras, nem Oxalá, pai dos homens, quer saber de guerras. Mas eu não estaria aqui se não soubesse que também teus filhos homens têm morrido nessa grande batalha e isto te traz dor ao coração. Vejo minha própria vida nessa grande batalha e peço que me ajudes a convencer o destemido Ogum, invencível na guerra, a combater ao lado de seus filhos. Dito isto, abraçou os joelhos do pai Oxalá, filho único de Olorum, senhor da alvura, mais alto entre todos. Oxalá se condoeu do filho, afagou-lhe a cabeça e lhe respondeu com grande amizade, dizendo-lhe as seguintes palavras: — Bem sei o que tu sentes, pois que venho presenciando o teu denodo e a tua aflição, bem como a morte de nossos filhos mais valorosos, nesse campos chamados de Tuiuti. E tens razão quanto ao que posso fazer, porque de fato posso fazer muito pouco. Como tu mesmo disseste, essa guerra não é nossa, nem nos cabe intrometer-nos nela. Há muitas coisas que estão escritas, há muitas mais que compete aos homens escrever por si mesmos, porque suas almas são livres e, se guerreiam, é porque escolheram a guerra. Mas não te aflijas, pois também está escrito que quem com fé combate por aquilo de bom em que acredita terminará por vencer. Quanto a Ogum, senhor do ferro e da ferramenta, insuperável na luta, cujo nome é a própria guerra, bem sabes que une a bravura à teimosia. Tu mesmo disseste que nada o demoveria, e ele é assim. O grande Oxóssi, caçador destemido, incomparável no arco e flecha, persistente como o orvalho da manhã, acabrunhou-se com o que lhe disse seu pai, ainda mais que reconheceu ser tudo verdade. E já chorava no colo de Oxalá, senhor da alvura, maior de todos, pela dor da perda de seus filhos mais valorosos, quando este, o coração apertado de pena, lhe falou como se segue: — Não quero que chores, nem que te entristeças, meu filho amado, imbatível no arco e flecha, caçador da madrugada, príncipe das matas. Nada te prometo, mas dou-te um conselho. Não deixes que se apague a esperança de que o corajoso Ogum, invencível na guerra, venha a mudar de ideia e juntar-se a seus filhos nessa grande batalha. Mas não te detenhas na esperança, eis que apenas ela, sem diligência, a nada leva senão ao sonho estéril. Procura, pois, a tua irmã Iansã, rainha dos ventos e dos espíritos, senhora das tempestades, valente e ousada como os tufões, e pede-lhe sua ajuda. Não te suprirá a falta de Ogum, cujo nome é a própria guerra e cujo braço não conhece barreira, mas te dará novo alento, pois até as árvores mais poderosas temem a força de tua irmã Iansã, domadora dos ventos e dos espíritos. Procura-a, saúda-a e diz-lhe que teus filhos mais valorosos e os dela estão morrendo nessa grande batalha do lugar chamado Tuiuti. Pede-lhe que use seus grandes dotes de guerreira para ajudar no cruel combate dessa grande batalha. Oxóssi estreitou a cabeça contra o peito do pai e sem demora partiu para a casa de Iansã, senhora dos ventos e das tempestades, guardiã dos espíritos. Lá chegando, disse: — Ê-parrê, Iansã, senhora dos ventos e das tempestades, rainha dos espíritos, valente e ousada como os tufões, de bravura irresistível, eu te saúdo! Nos campos desconhecidos de um lugar chamado Tuiuti, muitos dos nossos filhos mais valorosos estão morrendo nas mãos
de um inimigo fortíssimo e desapiedado. Já me juntei ao combate, em companhia de nosso irmão Xangô, o que atira pedras, terrível no campo de luta, mas ainda assim os nossos filhos perigam e é muito incerta a sorte da batalha. Venho, pois, pedir-te que viajes comigo para lutar nesse lugar chamado Tuiuti, para que as armas, com tua ajuda, não nos sejam adversas, minha grande irmã Iansã, rainha dos ventos e das tempestades, senhora dos espíritos, temível na refrega! A deusa de adereços vermelhos levantou o lindo rosto de beleza fulgurante e respondeu da seguinte forma a seu irmão Oxóssi: — Oquê, Oxóssi, irmão amado, caçador da madrugada, príncipe das matas, perito no arco e flecha, bons olhos te vejam, pela alegria que tua presença traz à minha casa! Já me disseram as contas de Ifá, o que tudo sabe, que se trava essa grande batalha onde morrem muitos dos nossos filhos mais valorosos e que nela estão esforçados os meus irmãos Oxóssi, hábil no arco e flecha, e Xangô, o que arroja pedras. Já até estranhava que não me houvessem convocado para essa luta, mas as contas me revelaram que tu virias buscar-me e assim te acompanho a essa grande batalha com todas as minhas armas. Não será hoje o dia em que nossos filhos mais valorosos juncarão a terra com seus corpos sem vida, pois tanto evitará a força de nossos braços e a potência de meus ventos. Assim falou e partiu com seu irmão para os campos de Tuiuti, onde Xangô, o que doma o raio, cavalgava as nuvens no aceso feroz da peleja, derrubando os adversários e escudando os filhos, visão mais terrível não podendo haver em terra ou céu. E logo Iansã, rainha dos ares, mais ousada que os tufões, de quem têm medo até as árvores mais poderosas, fez soprar seus ventos traiçoeiros, que conduziam espíritos maus aos corações dos inimigos. Espíritos covardes, espíritos poltrões, espíritos mentirosos e tíbios, todos esses foram soprados pelos ventos da santa, entrando pelas narinas dos paraguaios e lhes infundindo grande medo. Espíritos da discórdia, espíritos da inveja, espíritos da mesquinharia todos esses também foram soprados pelos ventos de Iansã, a que não corre de nada, e lançaram a confusão entre os inimigos. Oxalá, pai dos homens, o maior entre todos, viu de seu alvo trono o que se passava, e sorriu. Mas ainda sentia no peito a tristeza de seu amado filho Oxóssi, nunca vencido na caça, e então chamou Exu, o que come de tudo, à sua presença. — Larô-iê, menino Exu, o que come de tudo, amigo dos cachorros, mensageiro dos orixás — disse Oxalá, o pai dos homens. — Chamei-te aqui para que me prestes um serviço. Muito longe, num campo desconhecido chamado Tuiuti, está havendo uma batalha em que morrem muitos dos mais valorosos filhos meus e de todos os orixás, e isto me traz grande desgosto ao coração. Ogum, senhor da ferramenta e do ferro, cujo nome é a própria guerra, por motivo de orgulho e vaidade, não quer emprestar seu braço à defesa dos seus filhos. Reclama que não lhe fizeram as obrigações, não o invocaram em primeiro lugar, esqueceram dele, e agora se recusa a lutar. Não quero arriscar-me a suas malcriações e aos acessos de seu mau temperamento, porque não posso descer de minha grandeza. E então ordeno-te que o procures e, sem dizer nada do que te falei, nem que te falei, convença-o a partir para a guerra, usando um de teus mil ardis e estratagemas, não voltando jamais a aparecer diante de mim, se não cumprires a contento tua missão.
Exu voou para a casa de Ogum e o encontrou dormindo. Então Exu, o que come de tudo, mensageiro perfeito, o que ri na escuridão, entrou em forma de sonho no sono de Ogum, rei do ferro, excelente no combate, cujo nome é a própria guerra. Mas não entrou como Exu, entrou transmutado na figura de Iansã, deusa dos ares, de ânimo imbatível. Iansã, curvando os quadris arredondados, apareceu diante dos olhos adormecidos de Ogum e lhe falou: — Ogum-ê, grande guerreiro! Grande guerreiro, sim, que dorme como um carneiro velho, enquanto seus filhos mais valorosos perecem como flores pisadas, no campo estrangeiro chamado Tuiuti! Foi por ti que deixei a cama perfumada de nosso irmão Xangô, Rei de Oió, senhor da Justiça e do trovão, o que atira pedras? Esse que agora luta junto a seus filhos, não cessando um instante de bater-se e porfiar, segundo sua honra de combatente excelso? Ogum-ê, grande guerreiro, senhor do ferro e da ferramenta, cujo nome é a própria guerra, espero que teu sono de chumbo te renda glórias! Espero que assim contentes tua pequena vaidade, que não vê nada mais importante que as homenagens desses que morrem hoje sem a tua proteção, porque ficas aí deitado como uma Oxum sem beleza, apascentando tua pequenez de menino mimado. Achas que assim castigas os que pensas te haverem esquecido? Não, assim castigas a ti, que te diminuis a meus olhos, te fazes insignificante e verdadeiramente merecedor daquilo de que te queixas com teus amuos arrogantes. As minhas coxas macias jamais tocarás de novo, os meus peitos veludosos jamais outra vez te aceitarão a cabeça, não mais consentirei que enfies a mão por baixo do meu vestido, pois, se antes me arrepiava a mão vencedora do senhor da vitória, hoje me causa asco a mão de um que dorme enquanto seu povo morre. Se antes minha barriga queria receber tua semente e dela se orgulhar enquanto a carregasse e depois que ela brotasse, hoje não quero mais teus filhos, procura uma mulher de cabeça baixa e sentimentos pobres para te servir de sementeira, para que ponha no mundo teus filhos, que logo se verão sem pai, pois que tu dormes por vaidade, enquanto os teus morrem por valentia. Adeus, grande guerreiro, senhor do ferro e da ferramenta, cujo nome é a própria guerra! Logo em seguida, Exu, o que conhece mil ardis e se deleita em estratagemas, o que ri na escuridão, saiu do sono de Ogum e se escondeu entre as árvores, porque sabia que aquele cujo nome é a própria guerra ia acordar incendiado pelo fulgor dos olhos da grande deusa Iansã, congelado pelo desprezo glacial que deles se irradiava, entontecido pela beleza que não deixava ver mais nada na presença dela, enlouquecido em pensar que podia nunca mais estar com ela. Assim despertou, doido de fúria, Ogum, rei do ferro e da ferramenta, invencível no combate, fervendo de ódio porque não podia responder a ela, pois não há como responder a um sonho. Sonho este que interpretou como presságio, como um cochicho de Ifá, o que tudo sabe, querendo ajudá-lo contra uma armadilha do Destino traiçoeiro. Desta maneira, o valente filho de Oxalá, senhor da guerra, insuperável no combate, tomou suas armas e partiu para a grande batalha, cuja face ia mudar pela força de seu braço irresistível. Oxóssi, o caçador da madrugada, sentiu que chegara seu grande irmão Ogum para combater quando um clangor de metais abafou o estrépito da batalha e o ar se aqueceu como o que é soprado pelo fole na fornalha. Ogum, senhor do ferro, mestre das armas, cujo nome é a própria guerra, deteve seu voo no céu e disse ao irmão as seguintes palavras: — Oquê, Oxóssi, meu querido irmão, caçador sem par, perito no arco e flecha! Não
cabe a mim dormir como um carneiro velho, enquanto morrem na ingrata guerra os nossos filhos mais valorosos. Mais importantes que as homenagens que não me renderam e os devidos que não me pagaram são as vidas dos nossos filhos, e não posso deixar que o orgulho continue a cegar-me. Mas, se já perdi tempo, demorando em atender a teu justo chamado, tudo compensarei com a minha fúria e meu ânimo dispostíssimo. Oxóssi iluminou o semblante em amplo sorriso e seu peito se encheu de novo ardor, diante da figura agigantada de seu grande irmão, terrível como o estrondo dos canhões de bronze. Saudou-o com o braço levantado e disse: — Ogum-ê, salve, rei do ferro, mestre das armas, invencível no combate, cujo nome é a própria guerra, chegas a nós como a salvação! Pois que se torna cada vez mais tenebrosa esta medonha batalha em que morrem nossos filhos como moscas e já se misturam à lama, esmagados pelos pés sem clemência do adversário. Agora, com tua chegada, tenho certeza de que viraremos a sorte das armas a nosso favor e hoje mesmo, antes que o dia acabe, celebraremos a vitória. Ogum desceu sobre o campo de batalha como um vendaval, nada deixando à sua frente, pois que ignora qualquer barreira e é conhecido como o que vai primeiro. Na sua frente, sobre um morrote verde, um grupo de soldados combatia em torno do estandarte da Segunda Companhia de Zuavos dos Voluntários da Pátria, da ilha de Itaparica, estandarte mantido no ar pelo sargento Matias Melo Bonfim, feito de Ogum desde os sete anos, um de seus filhos mais valorosos. Vinha de Amoreiras, onde florescem os mimos-do-céu e os passarinhos cantam mais. Deixara seus dois filhinhos, Matilde e Baltazar, sua mulher Maricota e sua roça de milho e feijão, deixara sua mãe viúva e sua criação, prometendo voltar assim que ganhasse a guerra. Beijara a filhinha Matilde e o filhinho Baltazar na beira do atracadouro, antes de embarcar com seu vistoso uniforme para lutar pelo Brasil, abraçara sua mulher Maricota e sua mãe viúva e partira com o mesmo sorriso orgulhoso que estampava agora portando o estandarte intocável da companhia insulana, que flutuava na brisa acima da batalha. Alegre por ver seu filho, Ogum se preparou para animá-lo e dar-lhe conforto, mas o chumbo fervente de uma bala inimiga mordeu o pescoço tenro do rapaz de Amoreiras, apagou seu sorriso e lhe toldou os olhos com o véu pardo da Morte, a qual lhe aspirou a alma pela boca, boca que nunca mais beijaria Matilde e Baltazar, nem nunca mais falaria para contar das belezas de Amoreiras, onde os mimos-do-céu florescem e cantam mais os passarinhos. Ogum soltou um grito superior à canhonada e suas lágrimas quentes, de dor pelo filho morto, regaram o chão, tornando mais fumegante o sangue dos caídos. O estandarte oscilou, foi para um lado, foi para o outro, até que seu mastro tombou e ele se perdeu entre as cabeças dos combatentes. Como um cardume de atuns desbaratando uma manta de tainhas, como onças acossando a presa, como um enxame de abelhas enfurecidas, como matilhas de guarás despedaçando uns aos outros, paraguaios e itaparicanos se atiraram à luta pela posse do estandarte. Os cabos Benevides e Arimatéa, brandindo as carabinas como cacetes, fizeram uma parede em torno do estandarte, para que seu companheiro cabo Líbio o levantasse outra vez. Mas cabo Líbio, ao erguer-se, teve a cabeça fendida pela cutilada de um sabre e caiu morrendo, a lembrança de sua linda Gamboa, terra onde os mariscos são fartos e as tardes frescas, esvoaçando ao ar de seus miolos partidos. Uma mão paraguaia apoderou-se do hastil, uma lançada no peito derrubou o cabo Benevides e já o inimigo se preparava para amarfanhar
o pavilhão intocável, quando Ogum, senhor das batalhas, mestre das armas, cujo nome é a própria guerra, disparou do alto e arrebatou a bandeira num puxavão que por um momento fez com que ela tremulasse entre as nuvens. Disse então o grande Ogum, ao cabo Arimatéa: — José de Arimatéa, mantém firme o estandarte intocável de tua terra, que agora te passo às mãos! Quem te fala é teu pai Ogum, senhor das batalhas, invencível no combate, cujo nome é a própria guerra! Não esqueci os meus filhos e estou aqui para não deixar que pereçam nas mãos do cruel inimigo. É imensa a minha dor, porque demorei a chegar e não pude evitar que matassem um dos meus filhos mais valorosos, Matias Melo Bonfim, galardão de Amoreiras, onde florescem os mimos-do-céu e os passarinhos cantam mais. E pela mesma razão é também desmedida a minha fúria, que agora farei desabar sobre o inimigo. Estou a teu lado, vencerás! Ogum-ê! E logo, como um redemoinho, como um cata-vento de aço, como vinte mil facões esfarinhando o ar, o grande Ogum, invencível no combate, cercou seu filho cabo Arimatéa, enquanto ele suspendia bem alto o pavilhão, imune às balas e estocadas do inimigo. E depois Ogum, o que não conhece barreiras e é chamado o que vai à frente, acudiu a todas as partes do campo de batalha, de um flanco a outro, da vanguarda à retaguarda, dos infantes aos cavaleiros, dos cavaleiros aos artilheiros, levando ânimo e resistência a seus filhos e morte e terror ao inimigo, ainda cego de ódio por ter presenciado a morte de Matias, feito em seu nome desde os sete anos. Campeava assim incansavelmente, quando se deparou com Omolu, que lhe acenava da sombra de uma árvore, o rosto bexiguento coberto pelo filá. Disse então a Ogum o orixá da peste e da doença, senhor da lepra e da creca, o que mata sem faca: — Ogum-ê, valentíssimo guerreiro, senhor do ferro, mestre das armas e das ferramentas, salve meu irmão Ogum, cujo nome é a própria guerra! Vi nas contas de Ifá, o que tudo sabe, que se trava esta batalha, nestes campos chamados Tuiuti, e que nela estavam sendo mortos, como ainda estão, muitos de nossos filhos mais valorosos, por um inimigo poderosíssimo e desapiedado. Disseram-me também as contas que aqui estavam combatendo, para ajudar seus filhos nesta grande batalha, nosso irmão Oxóssi, invencível no arco e flecha, príncipe das matas, nosso irmão Xangô, o que atira pedras, senhor do raio, nossa irmã Iansã, rainha dos ventos e das tempestades, que infunde medo até nas árvores mais altas, e finalmente tu, que cito por último para destacar que deveria ser o primeiro, Ogum, dono do ferro, mestre das armas, ferreiro incriticável, invencível no combate. Então saí da minha casa e vim para aqui, porque também quero combater e ajudar a evitar que morram muitos dos nossos filhos mais valorosos. Também dói meu coração ao ver tombarem meus filhos e também choro por vê-los desvalidos nesta grande batalha, dizimados por um inimigo fortíssimo e inclemente. Peço-te então que me leves à luta, porque também quero combater para defender meus filhos. Mas o grande Ogum estava de disposição amarga e falou com fel na garganta e enxofre nos pulmões, respondendo a Omolu nas seguintes palavras farpeadas: — A-tô-tô, Omolu, dono das pestes, mestre da bexiga, senhor das epidemias, aquele que mata sem faca! Muito me admira que venhas aqui a esta grande batalha, pretender pegar em armas! Onde está tua velha arrogância, que te impediu de aceitar a faca que dei de presente aos orixás e aos homens, preferindo matar teus animais por exaustão a saudar-me pelo uso de minha faca? Onde está teu orgulho doente, que faz de tuas matanças as únicas em que não sou
saudado? Agora queres que te leve a combate, queres pegar no ferro das armas, queres redimir teus filhos desamparados à custa da minha valentia e das minhas ferramentas de guerra? Pois te digo, senhor das perebas, dono dos aleijões, mestre das postemas, rei da lepra e das epidemias, sem rival na podridão em vida e na morte lenta, não te levarei a combate algum, aqui não espalharás teu bafo pestilencial e teu suor contagioso. Carrega tua feiura manca para longe daqui, afasta-te para outras paragens, podes esquecer tuas fumarolas de guerreiro, pois a minha chegada mudou a sorte da batalha e, ao cair da noitinha, já não sobrará um inimigo de pé, nestes campos chamados Tuiuti. De utilidade nenhuma és aqui e, se minha faca não serve para teus sacrifícios, tampouco serve para que procures a glória, eis que a tua glória é a glória das quarentenas, dos resguardos, dos hospitais, dos leprosários e dos cemitérios. Assim falou o senhor do ferro, cujo nome é a própria guerra, e partiu para fazer mais mortes entre os inimigos. Omolu, senhor das pestes, mestre da bexiga e dos furúnculos, o que não come caranguejo, não respondeu nada, nem se viu sua face variolada por baixo do filá. Mas Oxalá, pai dos homens, o que tem mais nomes, maior entre todos, viu o rosto de Omolu e sua alegria se ensombreou. A grande batalha em que combatiam os orixás estava ganha, a paz mortífera que lhe impôs o braço nunca vencido de Ogum, com a ajuda de seus irmãos, já vinha chegando, junto com a noite. Mas o orgulho de Ogum, ditando palavras tão ásperas ao deus Omolu, que não perdoa com facilidade, ainda traria muita mortandade a seus filhos mais valorosos. Oxalá, o que tudo vê, filho único de Olorum, mais alto entre todos, senhor da alvura, fonte de harmonia, o que é chamado por mais nomes, suspirou. Tinha observado que as entidades paraguaias, estranhos seres de inacreditável aparência, estavam prestes a sair de águas, árvores e nuvens, para também socorrer seus filhos. Oxalá, pai dos homens, não conhece o medo nem a incerteza. Conhece porém a angústia e de novo lhe doeu o coração, ao pensar que aquela batalha estava ganha, mas haviam apenas começado os dias terríveis em que seus filhos mais valorosos pereceriam como moscas, como flores pisoteadas pelo cruel inimigo, como troncos apodrecidos pela ira de Omolu, senhor das moléstias, príncipe das pestes, dono das chagas e crecas, o que mata sem faca.
Corrientes, Argentina, 30 de junho de 1866.
O capitão Patrício Macário, com uma caretinha de dor, ajeitou a perna esquerda em cima de uma das cadeiras vazias de sua mesa no restaurante e cabaré El Pericón. Lembrou-se imediatamente do pai e das preceptoras, pois não era um gesto educado nem em casa, quanto mais num lugar público. Pois que se danassem. A perna estava bem melhor, mas ainda doía, principalmente quando fazia frio como estava fazendo, que se danassem, precisava esticá-la para que parasse com aquela fisgada enervante. Além de tudo, considerando-se que não havia público nenhum, somente o empregado das mesas, até que a situação era bastante reservada. Aborreceu-se mais uma vez por necessitar de desculpas, explicações e defesas para seu
comportamento, como se o pai e as preceptoras pudessem estar ali para recriminá-lo, como se fosse dar-lhes importância, caso estivessem. Recordou a expressão de permanente desgosto com que o pai o encarara a maior parte da vida, alisou o nariz, sorriu, ficou sério outra vez, muito pensativo. Ponderou algum tempo sobre se sentia ou não saudades do pai, não conseguiu chegar a uma conclusão. Sim, talvez sentisse, talvez, ao voltar, sofresse algum baque. Achouse sem referências, até angustiou-se um pouco. Embora o tivessem posto na farda, praticamente deportando-o, ele sempre pensara em si mesmo como um homem de família, uma pessoa que teria sempre parentes e casa. Mas agora tudo parecia vazio, apesar de seus dois irmãos e do cunhado, repentinamente tornados em lembranças tão distantes que ele se sentiu muito só. Era ao mesmo tempo desconfortável e excitante, um sentimento tão ambíguo que o incomodou e fez com que procurasse pensar em outra coisa. Sim, não estava realmente em público, naquele lugar fora do mundo, decorado em vermelhos e dourados, repleto de mesas de pernas convolutas, estofados, reposteiros, tapetes, cortinões pejados, candelabros suspensos em correntões, castiçais maciços, janelas dando para sacadas de madeira negra esculpida. Tudo gasto, puído, o veludo dos espaldares das cadeiras esgarçado, os castiçais amassados, as vidraças remendadas com papel e cola e, a um canto, um grande rombo na parede, mal coberto por um tabique de madeira. O empregado, paramentado numa espécie de libré, também rafado mas muito limpo, aguardava com dignidade ser chamado, mãos cruzadas à altura da barriga. Patrício Macário gostou dele, achou graça em seu jeito de peru, ao mesmo tempo emproado e assustadiço. Olhou em torno outra vez. Por mais decrépito, por pior que fosse, o lugar era principesco em relação ao hospital, a lembrança de cuja fedentina quase o fez engulhar. Felizmente tivera alta, permissão para sair de lá e terminar de convalescer na cidade, até que pudesse navegar rio acima, de volta ao acampamento de Tuiuti para reassumir seus deveres. A perna havia parado de beliscar e latejar, a cicatriz do rosto não ardia mais, ele respirou fundo e se sentiu quase feliz. Não, sentiu-se inteiramente feliz, feliz por estar vivo, por estar sarando, por ter tido sua conduta em combate elogiada mais uma vez por superiores e subalternos, por ter recebido parte dos soldos atrasados e uma remessa que Bonifácio Odulfo enviara, por ter encontrado aquele lugar semi-arruinado mas simpático, por não ter que fazer nada a não ser o que lhe desse na telha. Acenou para o empregado, que correu para a mesa e parou a dois passos dela, inclinando para a frente com a cabeça muito empinada. — ¿Para beber, que hay? Com um gesto que quase assustou Patrício Macário, ele tirou do colete uma espécie de folheto dobrado, em cuja capa surrada ainda se conseguia ler “Carta de Vinos”, em letras filigranadas. Abriu-o diante de seu freguês, que arregalou os olhos espantado. — ¿Hay eses vinos todos acá? — Casi todos, mi capitán, casi todos. ¿Puedo hacer, con su permiso, una recomendación? — Si claro, por supuesto. — El Clicó, mi capitán — falou ele, adiantando-se, estacando com uma batida de calcanhares e apontando para um nome na carta. Patrício Macário leu: “Clicquot, Finísimo Rojo de Francia”. — El Clicó — repetiu, tentando imitar a pronúncia do empregado.
— Si, señor capitán. Es el preferido de nuestros mejores clientes, todas las personas de más fino gusto que vienen acá lo preferen. Patrício Macário riu, olhou em volta. Todas? O empregado acompanhou seu olhar. — Está asi por causa de las guerras — explicou, com um ar de orgulho ferido. — Hay muchísimo poco tiempo, tuvimos acá la ocupación del general Robles y del comandante Resquin, siempre con grandes daños, señor capitán. Apontou com o queixo o rombo na parede. ¡Un cohete, señor capitán! — ¿Un cohete? — Si, un cohete. Ssssi... ¡Bám! ¿Lo comprende? — Si, Sssssi... ¡Bám! ¿Cohete, se llama? — Sabe mejor que yo, Señor Capitán. — Bien, hoy no me interesan cohetes o cañones. Accepto la sugestión. El Clicó. O empregado entrou para a copa, demorou muito pouco, voltou carregando uma bandeja colossal, praticamente um tabuleiro de prata, no meio do qual se apequenavam uma garrafa escura e um copo de cristal luzente. Fazendo um floreio, passou a segurar a bandeja apenas com a mão direita, mostrando no rosto congestionado o esforço que lhe custava suportar tamanho peso num só braço, mas insistindo em manter seus gestos silfídicos até conseguir depositar a imensa carga sobre a mesa. — Traga una otra copa — ordenou Patrício Macário. — ¿Está mala esa, señor capitán? Es cristal veneciano, el mejor de la casa, yo mismo... — No, no, es para usted. No me gusta beber solo. O empregado riu-se, desmanchou-se em mesuras e, sem muita convicção, recusou o convite. Patrício Macário insistiu, afetando severidade, ele terminou por concordar, mas o senhor capitão haveria de compreender a necessidade de uma certa discrição. Apesar do aparente abandono em que se encontrava, a casa era de muita tradição, de muito orgulho, fundada por franceses — franceses legítimos! — havia muitos anos, agora de propriedade de uma família castelhana, pessoas bondosas, mas de certo rigor. Além disso, com a instalação dos depósitos, do hospital e dos outros estabelecimentos dos aliados, havia mais gente na cidade, maior movimento. Não era impossível que chegassem mais fregueses e ele tivesse de convocar mais empregados de mesa, que àquela hora se encontravam ocupados em outros serviços. Y por la noche, ah, el señor capitán no conoce las noches de sábado en “El Pericón”, ¡son memorables, la música, los vinos, las lindas mujeres! Assim, se o senhor capitão não se opusesse, ele esconderia o copo após o brinde de praxe, de forma que se alguém chegasse, não o surpreenderia en violación flagrante de los reglamientos. Correu para buscar seu copo, serviu uns dois dedos de vinho ao capitão, para que o provasse. Patrício Macário nunca havia imaginado que um gole de vinho, um simples golezinho de vinho, pudesse ser tão inebriantemente delicioso, tão indescritível no calor que lhe trouxe à boca e ao estômago, na onda suave que lhe engolfou a cabeça, na vontade de respirar mais fundo que lhe veio, na claridade repentina que se estabeleceu, fazendo com que todos os veludões vermelhos do salão parecessem aumentar em brilho e tamanho. Fechou os olhos, derreou-se na cadeira, gemeu baixinho, enquanto o travo brando daquele golezinho se
espalhava pela boca, mordendo e adoçando ao mesmo tempo, perfumando divinamente o ar que ele inspirava. Olhou para cima, o empregado curvou-se e lhe encheu o copo, voltando a perfilar-se. — Sirvase — disse Patrício Macário. — ¡El señor capitán hará un brindis? — perguntou o empregado, com seu copo cheio levantado mais alto que a cabeça. — No, hagalo Usted. Debe solamente desculparme porque no puedo ponerme de pie, como es la obligación de un caballero. — Es un honor para mi, señor capitán. — Adelante, adelante. Ouviu atentamente o brinde, embora só compreendesse uma palavra ou outra, porque o empregado parecia repetir com fervor alguma coisa muito complicada, talvez um poema decorado na adolescência. Terminou com vivas ao Brasil, à Argentina, à liberdade, à amizade entre povos irmãos, às muitas vitórias que o senhor capitão teria em sua gloriosa carreira nas armas. Patrício Macário, já bastante ansioso para que ele chegasse ao fim, não aguentando mais a vontade de beber, agradeceu com um “muy bien” e uma curta reverência de cabeça, emborcou o copo e bebeu todo o seu conteúdo de uma vez. Quis fazer uma pausa a meio caminho, mas não conseguiu, nunca havia tomado nada que lhe fizesse tanto bem, de que tivesse tanta necessidade. Talvez não devesse beber, tendo acabado de deixar o hospital, mas não se sentia fraco, nem tomara remédio algum, pois a única coisa que lhe faziam era banhar em água fenicada seus dois ferimentos e envolvê-los em ataduras novas, a cada um ou dois dias. E, que diabo, o sujeito tem direito a uma carraspana, depois de ter passado por tanta miséria e ter visto tanta desgraça. Isso mesmo disse a Pedro Vidal, o empregado, quando, algumas horas mais tarde, teve dificuldade em equilibrar uma garrafa, das oito que usava para demonstrar a disposição das forças na Batalha do Tuiuti. Pedro Vidal, embora desaparecesse com frequência atrás do tabique para encher e esvaziar seu copo, era um desses bêbedos que, quanto mais bebem, mais assumem um equilíbrio pausado e digno, de forma que foi capaz de ajudar Patrício Macário na tarefa. — Muchas gracias — disse Patrício Macário, olhando a garrafa com satisfação. — Esa no podia cair, é el general Osório. Muy bien, entonces tenemos aqui Osório, en el alto, vês? Aqui neste lado está Mallet com la artilharia, aqui están los fossos con los abatises y las diversas defesas contra la cabalaria enemiga, lo comprende? Muy bien, aqui tenemos Sampaio, Sampaio aqui, la Tercera División. Aqui los hombres del general Flores, vês? Entonces, Flores. Muy bien, aqui Flores y aqui Mitre! Mitre! Argentina! A la derecha de Mallet aqui, comprendes? Aqui el matagal, aqui la floresta, aqui una laguna. Aqui, el Quartel General, vês? Por aqui vienó después el paraguayo Diaz, bien por cima de la Tercera División, Sampaio, Sampaio aqui. El Diaz, quando começa el embate, viene por cá, acomete en esta direción, percebes? Muy bien, la batalla rompe por acá, vês? Salió un foguete à congreve — sssssssiz-bám! —, muchos de ellos se arebentando y explodindo por cá, en lo medio del campamiento bivuacado acá. Yo estava acá y mandé el cornetero tocar lo toque de asemblea, lo conoces? Ta-taráta-ta-ta-ta-ta-tará-ta-ta, tororé, tororé, tororé... Mandé tocar asi, porque mi posición es aqui, por trás de esta garrafita, esta botella, vês? Entonces, mandé tocar
assembleia, llamé todos para esta formación aqui. Hay panes? Con miolo de panes puede figurar mi formación com exactidón. Mi bueno Vidal, fraterno camarada, bien que podias aprovechar, quando ires buscar la botella que vas buscar ahora, para trazer unos dois panes, pueden ser viejos porque no son para comer sino para completar este estudo. De esta vez, quiero yo hacer un brinde, ahora veo como ha sido grandiosa esta batalla! Cinquenta mil hombres, sessenta mil hombres quizás, y el viejo Sampaio contra-atacando el Diaz como un furacón! Entonces, que espera, mi bravo Pedro Vidal? Se muere de sede en la grande ciudade de las siete corrientes? Se asgota el sortimiento de vinos de la grande casa El Pericón? Acompanhou a trajetória de Vidal à copa e só então notou que haviam chegado outros fregueses. Do outro lado do vasto salão, meio indefinidos na penumbra, as longas sombras distorcidas pelas reentrâncias e saliências das paredes, dois grupos ocupavam mesas grandes. De pé junto a uma mesa menor, um pouco para a direita, outro grupo se preparava para instalar-se. Patrício Macário ficou meio ressentido. Agora o El Pericón não era mais o mesmo, havia intrusos, haveria logo ruídos de pratos e talheres, risadas e vozerio, haveria mais luz, como aliás já começava a haver, com novos empregados, surgidos do nada, acendendo os candelabros e fazendo com que o salão, para desgosto dele, parecesse remoçar, como uma mulher velha que só é bonita à noite. Mas logo se conformou, achou que, com a ajuda de Vidal, conseguiria manter seu reduto relativamente protegido e, além disso, a nova garrafa chegara. Encheu os copos, pegou a bengala para levantar-se, a perna doente lhe pareceu extraordinariamente bem, embora precisasse da bengala porque ficou mais tonto ao erguer-se e teve de esperar com os olhos fechados a tontura melhorar. Abriu os olhos, estendeu a mão para pegar o copo e só então viu o capitão Vieira diante de si, em uniforme impecável, botas reluzentes, galões de ouro, talabarte cintilante, luvas brancas imaculadas, uma das quais vestia sua mão esquerda e a outra pendia distraidamente do canhão da túnica, onde ele a havia enfiado à maneira dos oficiais mais elegantes. — Meu nobre capitão Macário! — disse com um sorriso que lhe torcia o bigode, estendendo a mão. — Bons olhos o vejam! Noto que está plenamente recuperado — acrescentou, franzindo a boca ao percorrer com a vista o mar de garrafas e copos sobre a mesa — e já está pronto para voltar aos rigores do acampamento, de onde só consegui sair hoje e, assim mesmo, para uma missão que me tomará muito pouco tempo. Desembarcamos faz poucas horas e... — Vieira — disse Patrício Macário sem pensar —, você é a última pessoa que eu queria ver hoje. Vá embora. — Mas o que é isso? Que é que deu em você? A notícia de que sua promoção a major está por vir já lhe subiu à cabeça? — Promoção a major? Que promoção a major? — Não venha dizer que não sabe. Todos no acampamento já sabem, o velho não faz segredo. — Verdade? Quem lhe disse? — É o que lhe falei, todos já sabem, é coisa tida como favas contadas. Até o velho Polidoro, que não é dos mais louvaminheiros, já falou a seu respeito numa reunião do EstadoMaior. Favas contadas.
— Major? — Ainda não, você ainda é capitão e portanto comete grave descortesia a um companheiro de farda e de posto, não o convidando à sua mesa, para brindar à sua iminente promoção. — Não, brindar não. Brindar não, é contagioso. Limitemo-nos a beber. — Gosta de Clicquot? — perguntou Vieira depois de sentar-se, examinando criticamente uma garrafa. — Bem, não preciso perguntar, está à vista que gosta. Também me sabe bem. Um pouco rascante, às vezes, mas sempre sério, não acha? — Hem? Sim, certo. Major, hem? Não esperava por isso, realmente não esperava. — Como não esperava? Claro que esperava! Não lhe bastasse a bravura em combate, que você tem de sobra, ainda conta com o mais importante, que é uma família de influência e excelentes relações. — O quê? O que é que você quer dizer com isso? Você quer dizer que eu ando mandando bilhetinhos para pedinchar favores e me acercando dos superiores para bajulá-los? É isso que você quer dizer? — Não, absolutamente. Falei de uma maneira genérica, de uma maneira muito genérica. Você não pode negar que as boas relações, uma família importante, tudo isso conta. — Se isso conta, não me interessa. Cumpro minha obrigação, me desincumbo de meus deveres e o resto não me interessa. — A vida é mesmo muito irônica. Depois daquele episódio em Itaparica, quando eu já era capitão e você ainda tenente, você vem sendo promovido e eu não. Note bem, não estou fazendo nenhuma insinuação, mas, modéstia à parte, minha ficha de combate é tão ou mais rica que a sua, tenho mais anos de serviço e, enfim, vê como são as coisas? — Você ainda tem coragem de lembrar aquele episódio de Itaparica, com seu tal movimento de pinças e sua excursão à noite? — Agi de acordo com normas táticas elementares, de acordo com as regras aplicáveis numa situação daquelas. — E foi o que se viu. — Você sabe perfeitamente que não posso ser culpado pelo malogro daquela missão. Enfrentamos condições duríssimas, extremamente desiguais, um inimigo numeroso, selvagem e familiarizado com as condições do terreno, a ponto de, mesmo com a encarniçada resistência que lhe opusemos, nos infligir baixas gravíssimas que, aliadas à insalubridade palúdica da região, nos obrigaram a uma retirada, com o que conseguimos reduzir nossas baixas substancialmente. — Isto você escreveu em seu relatório, se não me engano com essas mesmíssimas palavras. Você o decorou? — Mais ou menos. Sempre tive excelente memória e um certo pendor para as letras. — É uma das peças mais cínicas e mentirosas que já li em toda a minha vida. Não me fale nesse relatório, traz-me vergonha pensar nele. — Ora, vamos deixar de pudicícias, somos ambos homens vividos, conhecemos a realidade. Que é que você queria, que eu destruísse nossas carreiras com um relatório diferente? Na ocasião, você concordou com tudo, recordo muito bem.
— Sim, é verdade, mas a minha inexperiência é que me levou a isso. Hoje eu não teria concordado. — Creio que é fácil dizer isto hoje. — Vieira, por que é que você pensa que todo mundo tem o seu caráter, por que julga a todos por si? — Porque acho engraçado que você tenha aceito, como eu, vantagens por atuação em zona de guerra e outras decorrentes de nosso heroísmo em Itaparica e agora venha dizer que hoje não as aceitaria. Não só você as aceitaria como todos aceitam, é assim que é levada a vida, que é que você pensa que os outros são, um coral de vestais? Ah, se eu fosse contar tudo que sei! — Olhe aqui, Vieira, eu apenas não contestei o relatório, e aceitei as vantagens exatamente para não contestá-lo. — Mas não o contestou, a verdade é esta. E por que haveria de contestá-lo? Mais competência militar tenho eu do que muitos que se jactam de tê-la e exercem postos condizentes com essa jactância. Agora mesmo, estamos sofrendo as consequências dessa incapacidade de muitos dos nossos comandantes. Você deve saber que a vida no acampamento se transformou num inferno, sob bombardeio maciço dos paraguaios dia e noite. Mais dia, menos dia, enfraquecidos e enervados por esse bombardeio impenitente, teremos novo confronto e, desta vez, babau, não creio nem que o teu decantado heroísmo seja suficiente para salvar-nos de uma derrocada. E tudo por quê? Porque não aproveitamos a vitória para perseguir o inimigo, dizimá-lo tanto quanto possível e ocupar novas posições. É a lição clara dos grandes estrategistas, é realmente básico em teoria militar. — Perseguir o inimigo, como, Vieira? Perseguir o inimigo com oficiais como você, que desaparece na hora do combate, que ninguém vê enquanto dura o fogo, que se limita a bazófias a respeito das lições de Fulanê e Beltranê e Sicranê, como se estivesse fazendo exercícios sobre Napoleão na Academia? Que é que você sabe de uma verdadeira batalha, de uma verdadeira operação militar, espada virgem, canalha, poltrão, mentiroso, safado e descarado! — Meça suas palavras, Macário! Meça suas palavras, antes que venha a arrepender-se amargamente! Posso fazer com que você engula suas palavras! — Você pode fazer lá coisa alguma, descarado! Você faz nada! Do mesmo jeito que você assiste a seus soldados morrendo sem comando e assistência, gente do povo, rapazes mal saídos das fraldas, gente à qual você se sente superior quando na verdade é muitíssimo inferior, desse mesmo jeito você escuta calado o que bem me der na veneta lhe dizer. Para sua espada de burleta, não preciso mais que minha bengala! O Exército que sair dessa guerra não terá mais lugar para vagabundos como você, que disfarçam sua canalhice em maneiras afetadas e falsos conhecimentos, que só vivem para usufruir vantagens, que usam sua posição para obter mais e mais benesses, que fazem da farda o pano de lustrar botas dos poderosos, que transformam a vida militar na lata de lixo dos aproveitadores que não sabem fazer nada a não ser dar-se ares de importância e meter a mão no que podem, mentindo, falseando, loroteando, extorquindo e intimidando, até acreditando nas próprias patranhas, que impingem a si e aos outros para poder olhar a si mesmos no espelho. Mentiroso, pulha, degenerado,
venal, patife, bajulador, valente contra quem não pode resistir, irresponsável, parasita, aproveitador, cínico, achacador, farsante, ladrão! Filho de uma puta! Ouviu? Filho de uma puta! Ouviu bem? É com você, capitão Vieira, cagalhão fardado, pústula ambulante, cloaca estrelada, é com você que eu estou falando! É com você, seu filho de uma puta! — Não sei onde estou que não lhe dou um tiro na testa! — disse Vieira, dando dois passos para trás, muito vermelho, quase roxo. — Vá em frente, cachorro. E lhe chamei de filho de uma puta. Ouviu bem? Filho de uma puta, filho de uma puta, filho da puta! Filho da puta! Corno! Safado! Sacana! Ladrão! De que é mais que você quer que eu lhe chame para provar que você não faz nada? Filho de uma puta! — Macário, o mundo dá muitas voltas e vai chegar o dia em que tudo isto que você está me dizendo será pago com juros, ouça o que lhe digo. Não vou estragar minha carreira matando um desqualificado como você, um mero brutamontes que se julga militar. Você está bêbedo e não discuto nem brigo com bêbedos. — Volte aqui, safado! Volte aqui, venha fazer com que eu engula minhas palavras! Mas Vieira não voltou e Patrício Macário não teve disposição para ir atrás dele. Pensou em conversar com o empregado, explicar-lhe tudo o que o afligia em gente como Vieira, tudo o que lhe dava esta raiva desenfreada, esta sensação de impotência e frustração, mas resolveu que não podia, não podia jamais explicar a ninguém, havia que esperar que houvesse, como devia haver, alguém que já sentisse o mesmo que ele. Sentou-se outra vez, pegou um copo, levantou-o, mas não o levou à boca. Que fazer agora, comer? Será que tinha fome? Precisava comer de qualquer forma, e então, sem apetite mas disposto a se alimentar por obrigação, pediu ao empregado que lhe trouxesse alguma coisa substanciosa. Comeu muito mais do que antecipara e, sentindo-se menos bêbedo mas ainda muito bêbedo, terminou sentando-se junto a uma mulher chamada Corazón, declarandolhe amor jamais antes experimentado e saindo para dormir com ela num quartinho enfeitado de flores de papel, en la Plaza del Cabildo.
15
Lisboa, Portugal, 30 de novembro de 1869.
Não se deve esposar um determinismo rígido quanto a essas questões, pois fatores outros, tais como a raça, desempenham papéis cruciais, mas a verdade é que a clara definição do ano em quatro estações distintas é civilizada e civilizadora. As nações como o Brasil, em que praticamente só existe inverno e verão, imperando a mesmice de janeiro a dezembro, parecem fadadas ao atraso e são abundantes os exemplos históricos e contemporâneos. Até culturalmente, as variações sazonais se revestem de enorme importância, eis que forçam a diversificação de interesses e atividades em função das alterações climáticas, de modo que os povos a elas expostos têm maior gama de aptidões e sensibilidade necessariamente mais apurada. Além disso, o frio estimula a atividade intelectual e obvia à inércia própria dos habitantes das zonas tórridas e tropicais. Não se vê a preguiça na Europa e parece perfeitamente justificada a inferência de que isto se dá em razão do acicate proporcionado pelo frio, que, comprovadamente, ao causar a constrição dos vasos sanguíneos e o abaixamento da temperatura das vísceras luxuriosas, não só cria condições orgânicas propícias à prática do trabalho superior e da invenção, quer técnica, quer artística, como coíbe o sensualismo modorrento dos negros, índios, mestiços e outros habitantes dos climas quentes, até mesmo os brancos que não logrem vencer, pela pura força do espírito civilizado europeu, as avassaladoras pressões do meio físico. Assim, enquanto um se fortalece e se engrandece, o outro se enfraquece e se envilece. Os fatos são claros, pensou Bonifácio Odulfo; não vê-los é, como diz o vulgo, querer tapar o sol com uma peneira. Quando escreveria esse ensaio, que lhe vinha à cabeça tão pronto, tão inteiro, tão acabado e escorreito, tão alicerçado na evidência dos fatos e no raciocínio despido de paixões? Talvez nunca, concluiu com certa tristeza, pois que banqueiros não escrevem ensaios, nem convém que certas coisas, embora sabidas por todos, sejam ditas. Era uma pena, como também fora uma pena que não tivesse podido anotar o poema que o invadira aos borbotões quando, curvado para enfrentar o vento que varria a Baixa de Lisboa, fez questão de descer a pé a rua do Ouro, a fim de ter a emoção de estacar à entrada da Praça do Comércio, e bateu-se com a Ribeira das Naus, a amplidão grávida e cinzenta da boca do Tejo, ondinas arrulando na rampa como se ali começasse o mar e se abrisse o Infinito. Conquistadores dos oceanos! Nautas intimoratos, exploradores do Universo, dominadores de mundos, viajantes do Desconhecido! Glória a vós, que desbravastes... Talvez as lágrimas que então lhe brotaram, como as que agora também lhe brotavam enquanto olhava a rua de São Bento do alto de uma sacada, não tivessem sido causadas apenas pelo vento gelado que lhe feria os olhos. Talvez fosse mesmo emoção, emoção que lhe voltava agora, embora serena, ao contemplar o casario vistoso do Bairro Alto e da Estrela, que podia ver de cada um dos lados da sacada. Apertou o peitoril de ferro lavrado, indiferente ao frio das mãos. Que lindo palacete! Palacete não, um verdadeiro palácio, uma residência digna de
um rei. Que diferença em relação à pobreza das casas brasileiras, onde a ausência de conforto, requinte e luxo era apelidada, com indisfarçável vergonha, de “austeridade”. E esta era só uma das residências do marquês de Sassoeiros, seu anfitrião. Sem dúvida a melhor delas, pois ele insistira em tratar seu hóspede com inexcedível fidalguia, pondo-lhe à disposição o palácio com todas as suas dependências, mais que suficientes para abrigar Bonifácio Odulfo, sua esposa, D. Henriqueta, a criadagem trazida do Brasil e os serviçais portugueses da casa. Mas havia outras: a quinta em Lisboa, a quinta em Sintra, a mansão do Estoril, o não sei quê do Restelo e assim por diante, numa sucessão impossível de memorizar, que trouxe uma ponta de inveja a Bonifácio Odulfo. Como ter tal refinamento no Brasil? No Brasil não vale a pena nem ser rico, pensou, tirando as mãos do peitoril e soprando nelas para esquentá-las. — Que frio! — gorjeou Henriqueta, muito coquete em seu redingote de golas de pelego, que graciosamente envergara por cima da camisola cor-de-rosa. — Fecha, fecha, Boduzinho, que este frio me mata! Que estavas a fazer lá fora com este frio, queres constiparte e matar-me de cuidados? — Já falas como uma portuguesa, é admirável como tens talento para essas coisas! — disse Bonifácio Odulfo, encantado. — E estás linda como uma princesa! Minha princesinha portuguesa! — Mas nunca falei lá muito à brasileira. — Isto é verdade, sempre tiveste uma maneira de falar muito distinta, foi uma das coisas que primeiro me atraiu em ti. E teu pai, o velho barão, fala exatamente como um português. — Disto ele sempre fez questão. Costuma dizer que, pela voz, sempre saberão que ele nunca andou no meio dos pretos e que se formou em Coimbra. — Tem espírito, o velho. Estava a pensar em como é linda esta casa, este palácio, não achas? Já comentamos isto, mas não me canso de comparar esta riqueza e este refinamento à pobreza do Brasil, onde, por mais que haja dinheiro, não se pode realmente ter nada disso. Não é nem que não se consiga comprar essas coisas, importá-las, mas há algo que não se pode levar, esta atmosfera, esta civilização que está no ar... — Nem me fales, não penso em outra coisa. Como é bom andar por ruas decentes, sem jamais ver um negro ou um esmolambado como na Bahia, entre pessoas que falam corretamente e está a ver-se que têm um mínimo de cultura, até as mais pobres. Aliás, censuraste-me, mas agora hás de concordar que fiz muito bem em trazer as duas criadas brancas e Miss Gordon, e fiz muitíssimo bem em insistir para que trouxesses o teu fâmulo, como se chama ele? Sempre esqueço. — O meu fâmulo, ha-ha! O Octaviano. Sim, não queria trazê-lo, achei que era dar-lhe ousadia demais, proporcionar-lhe uma viagem à Europa com tão pouco tempo de serviço. É verdade, tens razão. Eu achei que trazer somente os pretos era suficiente, mas ver-nos-íamos em grande embaraço... — ... se déssemos a todos aqui a impressão de que vivemos entre pretos, que só há pretos no Brasil, como, aliás, é o que muitos pensam e que me deixa morta de raiva. Um homem da tua importância não pode cuidar de assuntos triviais pessoalmente, nem pode usar um preto para tratar deles. Imagina que vergonha! Agora que o marquês nos cedeu casa e
criadagem e insiste tanto para que façamos amplo uso de ambos, não creio que vá às compras com nenhuma das negras, levo as criadas portuguesas e Miss Gordon, não levo nem as duas criadas brancas brasileiras. — Ainda vais às compras hoje? Olha que é hoje a recepção no Palácio Real, é a véspera das comemorações da restauração da Independência, há muito movimento nas ruas... — Ah, a recepção em palácio! O rei D. Luís, viste-lhe o retrato? Tem belos olhos azuis, vê-se que nasceu rei. Como não ir às compras? Se soubesses o tanto que há para comprar ao Chiado, se soubesses como aqui têm de tudo, enquanto lá não temos nada, se soubesses quantas coisas ainda me faltam para estar perfeita na recepção, uma esposa verdadeiramente à altura de ti, não falarias isto! Ah, que joias, que pedrarias, que ouro perfeito, que deslumbramento, não podes imaginar o que significa, para um espírito feminino aprisionado naquele atraso do Brasil, entrar nas lojas de Lisboa e ver como aqui são deliciosamente vulgares as coisas que lá deixam toda a gente boquiaberta. — Compreendo perfeitamente, minha adorada, e nada me deleita mais do que ver-te assim, como uma criança peralta, com os olhinhos faiscando para ir às compras. Mas não viste nada ainda. Ainda vamos a Paris, a Londres... Não podes imaginar o fastígio da Corte de Napoleão III, da Cidade-Luz! — Posso, sim, posso muito bem e lá também farei compras! Pretendo aproveitar esta viagem ao máximo e me valerei de cada minuto para comprar aquilo de que necessitamos, além de outras coisas, coisas importantes, que modificarão nossa vida. Não somos pessoas comuns. — Está bem, está bem, estou cada vez mais habituado a sempre teres razão. Tomaste o pequeno almoço? — Não, mas está posto e tenho uma fome como há muito tempo não tinha! — Que maneiras são essas, menina traquinas? Onde já se viu uma senhora a falar dessa maneira sobre seu apetite? — Ah, mas já viste as comidas daqui? — Claro que já vi, não estamos aqui há três dias? — Pois então, pois então como não te emocionas? É tudo tão melhor, de tão melhor qualidade... Os doces, as carnes, as conservas, os mariscos... Ai! — Toma tento, menininha! — Viste as maçãs? A fruta de que mais gosto é a maçã, ah que maçãs frescas e deliciosas! E as cerejas? As ameixas? Oh, por que não há frutas no Brasil? — Vai, vai, anda lá ao teu desjejum, antes que me comas a mim. — Au! Au! Au-au! — Vai, vai. Vou à casa de banhos por um instante, aparar a barba e lavar-me, irei já ter contigo. — Não te demores! — Não me demorarei, vai. Não se mexeu enquanto ela não chegou à porta da saleta onde estava servido o desjejum, abriu-a e voltou-se para dar-lhe um adeuzinho. Que alegria de viver, que sensibilidade irrequieta, que intuição formidável para uma mulher ainda tão jovem! Tinha de
confessar que aprendera muito com ela, que aprendia todos os dias alguma coisa. Já se tinha habituado a uma certa autossuficiência no comando dos negócios e na condução da vida da família, achava que pouco havia para aprender. Mas estivera enganado, porque aquela menina, com seus modos travessos na intimidade e o comportamento público de uma lady, era na verdade a companheira ideal para um homem como ele. Abriu-lhe os olhos para aspectos da vida cuja importância ele antes não reconhecia, educou-lhe o gosto, chamou-lhe a atenção para muitas coisas de grande relevância, fez dele outro homem, enfim. Teresa Henriqueta Viana Sá de Brito Ferreira-Dutton, praticamente uma princesa de origem, uma rainha por vocação, futura mãe de filhos seus que não poderiam senão ser príncipes. Entrou distraidamente no banheiro, olhou-se no espelho. Ergueu o rosto, mirou-se de cima para baixo, achou-se não de todo mau. Na verdade, achou-se até bonito, uma nobreza de feições visível, um jovem desempenado aos trinta e cinco anos. Quanta coisa por trás deste rosto, quanta coisa dentro desta cabeça! Teve dificuldade em abrir a torneira da pia, atrapalhou-se na mistura da água quente com a fria, maravilhou-se novamente com aquele mecanismo tão eficaz, quase não quis tirar as mãos do jorro da torneira para lavar o rosto, tão boa era a sensação da água corrente nos dedos. Orgulhou-se ao lembrar que não tinha precisado consultar os criados portugueses sobre como se usavam aquele e outros aparelhos modernos, estava seguro de que vinha tendo um comportamento perfeito, do qual mais tarde não se envergonharia. Conhecia todos os termos, sabia do que gostar, do que não gostar, não deixava transparecer nervosismo nos encontros sociais, ninguém poderia dizer que era um provinciano mal-educado, típico de um país atrasado e obscuro, sem caráter próprio e sem nada que o notabilizasse. E estava apenas em Portugal, cuja importância vinha decrescendo a olhos vistos, que não podia comparar-se às grandes nações da Europa. Ergueu o rosto outra vez. Se tivesse nascido na França ou na Inglaterra, nas mesmas condições em que nascera no Brasil, a que alturas já não teria chegado? Era bem verdade que, em Portugal, com a suspensão das remessas brasileiras devido à Campanha do Paraguai, sua importância se avultava. Não fora pelos seus belos olhos que o próprio ministro Loulé, ministro do Reino, fizera questão de honrá-lo com um convite pessoal para os festejos do Primeiro de Dezembro. O marquês de Sassoeiros, que o tratava com tanto desvelo e pompa, também tinha suas razões para agradá-lo, pois as vendas ao Brasil de seus produtos importados da França estavam praticamente suspensas devido aos problemas cambiais, tornando muito interessante a amizade com um banqueiro brasileiro de influência, capaz de contornar certos problemas. Havia também a questão das ligações do marquês com o duque de Saldanha. O marquês mencionara essas ligações de maneira especial, como se estivesse querendo insinuar alguma coisa sobre a qual não podia ser claro de pronto. Mas Bonifácio Odulfo suspeitava que se tratava de uma trama de altíssimo coturno, relacionada com a possibilidade de D. Luís assumir a Coroa espanhola, no que, dizia-se, contava com o apoio de Napoleão III. Seria realmente estabelecida uma federação ibérica, ideal que se propalava ser o do duque de Saldanha e que contava com o apoio de interesses como os do marquês de Sassoeiros? E, nessa histórica mudança na face da Europa, a participação daquele que se olhava prosaicamente no espelho poderia ser decisiva, na arregimentação de capitais e no aconselhamento financeiro? Bonifácio Odulfo apertou os olhos para se enxergar com mais definição, porque sua
visão melhorava assim. Era um homem importante, sim, um homem muito importante, que se surpreendia pensando nos que decidiam sobre os destinos do mundo como se fossem seus pares. E logo mais estaria, ao lado de homens importantes como ele, adentrando os imponentes salões do Paço da Ajuda. O Brasil era atrasado, infinitamente atrasado e desconhecido, mas ele era importante e, pessoalmente, não tinha nada de que se envergonhar. Como, aliás, não teria vergonha nem faria vergonha, se fosse convidado do próprio imperador de França ou da rainha Vitória. Mas não seria, naturalmente, pois — pensou irritado — brasileiro só é importante para português.
Denodada Vila de Itaparica, 14 de maio de 1870.
Vergonha, vergonha, vergonha das vergonhas! Suprema vergonha, vergonha indelével, vergonha tão pesada que deixa João Popó sem condições de conviver consigo mesmo. Se antes, nos momentos mais duros de uma vida duríssima, nunca o tinham visto com um copo na mão, agora o veriam, era demais. E dissessem o que bem lhes aprouvesse, ele era que não ia se incomodar, como não se incomodou com o olhar de Lindaura de Jacinto, quando entrou na quitanda do marido dela e pediu uma botija — uma botija não, um botijão — de cachaça, suor de alambique mesmo, coisa de fazer o bafo do bebedor pegar fogo na hora de acender o charuto, coisa de macho mesmo. Grandíssimo espanto da parte de todos: uma pessoa de respeito, em vez de encarregar um negro, entrar pessoalmente numa quitanda para pedir, em alto berratório, um botijão de cachaça ordinária? Via-se de tudo hoje em dia, até o velho João Popó dando desfrutes e perdendo inteiramente o decoro, pois não é que, depois de dizer que não precisava embrulhar, não precisava entregar em casa, ele mesmo levava o botijão debaixo do sovaco, mandou botar quatro dedos dessa girgolina numa caneca e, sem pestanejar, tragou tudinho como se fosse água? Limpou a boca com um lenço, estalou a língua e encarou os presentes um a um antes de sair porta afora, carregando seu botijão. Bem verdade que tinha havido grandes mudanças na vida de João Popó, desde a partida de seu filho Zé Popó para a guerra, de forma que a estranheza, apesar de grande, foi menos do que seria em outros tempos. Para começar, depois da partida o velho deve ter passado umas duas noites sem dormir de puro assanhamento, com os olhos arregalados como se tivesse bebido cinco potes de café, um verdadeiro corrupio para cima e para baixo, nas horas mais impróprias. Mandou chamar Coquinho Popó em casa de madrugada, deu-lhe um esbregue que durou até o amanhecer, disse-lhe que, se tivesse vergonha na cara, nunca mais pusesse os pés em lar que ele sustentasse e se preparasse para arranjar onde morar, porque ia ser despejado. Fez mais ou menos a mesma coisa com Labinha e Ostinho, deixou de se dar com Lafayette e, quando Candinha protestou, ameaçou dar-lhe uma surra de cipó caboclo, chegando a mandar o negro Boanerges ir buscar no mato uma boa quantidade. Franklin Popó quis defender a mãe e perdeu uma camisa nova, rasgada pelas cipoadas do velho que o perseguiu de quarto em quarto, chegando até a pular a janela atrás dele, parecendo que tinha vinte anos. Voltando para casa, anunciou que não tinha perdido nada ali, que não considerava
aquele povo uma família decente e daquela hora em diante ia morar com Iaiá Menina. Candinha disse que ia cortar a garganta, ele foi lá dentro, pegou a navalha, amolou-a caprichosamente na cortiça, experimentou o fio cortando um cabelo seguro apenas por uma das pontas e a entregou a ela, recomendando que fosse fazer o serviço lá fora, para não embostelar a casa toda com aquele sangue ordinário, incapaz de dar um filho que prestasse. Candinha desmaiou, ele reclamou que nem para se matar ela servia, mandou as negras arrumarem suas trouxas e baús, fretou duas carroças e fez uma mudança espalhafatosa, levando até mesmo o piano e as estatuetas do violinista e da harpista que ficavam em cima dele, de biscuit e presente do finado Hermelindo, pai de Candinha. Na casa de Iaiá Menina, pronunciou um discurso na frente dos negros e dos vizinhos, em que afirmou que ser amigado, em muitos casos, era melhor do que viver com uma legítima que só trazia atraso, mas não se metessem a bestas, porque ele estava ali exercendo seu direito de dono da casa e arrimo da família e não tinha de dar explicações a ninguém. De tardinha, nem bem terminara a mudança, mandou chamar Menina, disse que ia precisar dela logo cedo e, quando ela mandou recado por Laurinda informando que o reumatismo havia piorado, entrou no quarto abrindo a porta com um pontapé e disse que queria vê-la suficientemente lépida, até para bailar a polca, dentro de um quarto de hora contado em seu cebolão de ouro, senão ele curava aquele reumatismo na porrada. E não se satisfez em ocupar Iaiá Menina dessa forma, mas pareceu ter incorporado o mais salaz dos diabos, pois não se passava dia sem que fosse aos dares e tomares com pelo menos uma de suas mulheres, às vezes duas, tal o fogo lúbrico que o incendiava todo o tempo e tal o priapismo que lhe invadia os quartos à visão de qualquer fêmea, a ponto de anunciar a amigos, em tons fingidamente confidentes, que desejava que a própria Terra tivesse uma vulva, para ele possuí-la com seu vergalho invencível, que lhe trazia sentimentos épicos ao enfiar-se irresistivelmente pelas dobras das mulheres. Até mesmo ao Mutá ele deu de ir de vez em quando, para ver Maria Zezé. E Candinha, passada a primeira zanga, conservava na casa tudo o que ele deixara para trás, inclusive a xícara de porcelana, os chinelos ingleses e o penico esmaltado, do mesmo jeito a que ele estava habituado, de forma que, quando ele aparecia, podia sentir-se à vontade, antes de levá-la à cama, onde ela se benzia e fechava os olhos. Só com Rufina Popó é que encontrou dificuldades, porque, mesmo ele fazendo visitas frequentes, dando mais dinheiro do que jamais dera e elogiando tudo o que via e ouvia, ela não cedia, só cederia se houvesse os acertos pretendidos, ainda mais agora, que seu dela filho Zé Popó era a honra da família em figura de gente. João Popó não chegou a concordar quanto aos acertos, acenando apenas com um vago testamento que iria fazer no futuro próximo, mas prometeu que, quando o filho voltasse da guerra, as coisas mudariam. Mudariam, sim. E, já que as coisas eram assim, por que ela não...? Se assunte, respondia ela com um empurrão, aqui só com o papel na minha mão. Essa atitude lhe causou nervosismo algumas vezes, a ponto de um dia haver parado à porta dela, bem no meio do Alto de Santo Antônio, à vista de todo mundo, e feito um dos maiores escândalos já presenciados em toda a ilha, tendo-se ouvido palavrões e xingamentos de tal diversidade que muitos deles ninguém havia escutado antes. Precisou ser seguro por
seus filhos Geminiano e Vavá, e Dionísio, de todos o mais ferrado, chegou a ameaçar cair-lhe em cima de cacete, se tornasse a xingar sua mãe. Então o comportamento de João Popó já não era tão inusitado assim, fazia, de certa maneira, parte dos acontecimentos cotidianos da vila. Mas agora que seu filho voltara herói, promovido a cabo, o peito coberto de medalhas, se esperava que João Popó mudasse outra vez. E era o que tudo indicava, ele vestido num terno preto resplandecente, chapéu novo, botinas novas, lenço novo, tudo novo, esperando o navio atracar, trazendo de volta os que sobreviveram aos combates e às doenças, trazendo de volta o seu filho Zé Popó. Entre sirenes, apitos, serpentinas, gritos, clarinetadas, fanfarras e foguetes, João Popó quase carrega o filho no colo, levando-o, seguido por uma banda de música, para o Campo Formoso, onde a festa já estava pronta, a pracinha forrada de mesas, as mesas cobertas de comida e bebida. Durante quatro meses, trabalhara duramente num acróstico e, finalmente, no auge da festa, pôde declamá-lo triunfante, como chave de ouro para o discurso de saudação a Zé Popó. Que felicidade, que arrebatamento, que glória, ver Zé Popó respondendo às perguntas dos meninos sobre as medalhas que lhe coruscavam no peito, que dia indescritível! E continuou indescritível pela noite adentro e pela manhã seguinte, João Popó decretando feriado e celebrando em toda a vila, a própria imagem da felicidade e do orgulho. Mas, agora, vergonha! Opróbrio! Vergonha! Desgraçado do sangue mandingueiro de Rufina, aquela peste ordinária! Nunca que a felicidade pode ser completa, mas já se viu? Zé Popó, cachorro, infeliz, miserável, doente, tinha que abater a felicidade do velho com aquela desfeita? Aquela desfeita, não, aquela ofensa, aquela agressão, aquele ultraje, aquele verdadeiro ataque! Aquela vergonha, vergonha, vergonha, para não falar no crime de lesapátria indubitavelmente cometido, para pasto e gáudio de seus inimigos e — por que não dizer? — dos inimigos do Brasil. João Popó arrepiou-se ao lembrar mais uma vez o acontecido, encheu de cachaça um canequinho e bebeu tudo, terminando com um estremeção.
A Sociedade dos Filhos da Independência Sete de Janeiro, reconhecida como de utilidade pública pelo Município e pela Província, foi criada com fins líterorrecreativos, colimando ainda o fomento dos ideais do amor à Pátria, do espírito público e dos valores mais acendrados da Nacionalidade. Na eleição para o biênio 1869-1870, venceu a chapa Liberdade, apesar da aguerrida oposição capitaneada por João Popó à testa da chapa Autoridade, cuja plataforma era um espinheiro de verrinas contra a dissolução dos costumes, o livre pensamento, as ideias republicanas e abolicionistas, a liberdade de religião e tudo mais quanto representasse o solapamento dos alicerces sobre os quais deve assentar-se uma verdadeira civilização. Corinto Mello, o presidente da chapa vitoriosa, era uma figura aparentemente inatacável, mas João Popó via na sua complacência para com certas novidades um extremo perigo, além de evidente desdouro para uma entidade que fora criada para conservar e não para mudar. Por um fio, sua proposta de modificação dos estatutos para permitir o ingresso de pardos não foi aprovada, requerendo de João Popó sobre-humanos esforços de eloquência e arregimentação, para evitar que tal calamidade ocorresse. Onde estamos? — havia perguntado na assembleia geral. Em Sodoma e Gomorra? Nos reinos devassos do Oriente? Não consentiremos jamais que chegue o dia em que os destinos de uma
agremiação que traz a Independência no próprio nome sejam regidos por escravos e filhos de escravos! Em muitas outras ocasiões, o espírito vigilante e combativo de João Popó se contrapôs ao reformismo de Corinto Mello, a ponto de as relações entre os dois terem ficado bastante estremecidas e as reuniões dos sábados à tarde se processarem o mais das vezes em atmosfera de exacerbada tensão. Assim, foi necessário que João Popó congregasse apoio até mesmo entre alguns membros da facção adversária, para a homenagem que queria prestar ao filho numa sessão especial. Argumentava-se que a homenagem devia ser a todos os ex-combatentes, inclusive os muitos mortos, mas João Popó contra-argumentava que o filho tinha sido de longe o mais condecorado, ditando pois a justiça que se simbolizasse nele a honraria. Depois de longas e pacientes negociações, em que João Popó se viu frequentemente constrangido a cobrar dívidas atrasadas e exercer outras formas de pressão, chegou-se a uma posição conciliatória. A homenagem seria a todos, mas caberia a Zé Popó receber o diploma de honra ao mérito em nome dos outros e dirigir-se aos presentes, fazendo um pronunciamento sobre a Campanha, talvez até uma pequena palestra. Pequena palestra esta que, cobrindo miudamente cinquenta e seis folhas de papel almaço, João Popó já tinha preparado ao longo de meses de labor exaustivo, em que muitas vezes se sentiu febril e foi obrigado a levantar-se da escrivaninha, tamanha a exaltação que lhe vinha da narrativa das glórias brasileiras. Já galopa desabrido o Centauro dos Pampas. Sob uma saraivada inclemente de balas, ergue o peito majestoso e, diante de sua aparição magnífica, recobram nossos homens o ânimo vergastado pela sanguinolência da batalha. Não é um homem. É um deus. Os olhos cintilando sob as abas adejantes do grande chapéu negro, saca da espada gloriosa e de seus lábios prorrompe, em voz forte e estentórea como os clarins do Triunfo, a ordem há tanto tempo ansiada: — À carga! De cada garganta estruge um brado, que reboa uníssono pelos campos. É a tropa brasileira em sua arrancada invencível. Já não marcham; correm. Já não correm; atropelam, abalroam, vão de escantilhão, nada consegue detê-los. Rola pelo chão um corpo ferido. É um camarada que cai no campo de honra! Uma vida ainda em botão, ceifada pelo horror da guerra! Entretanto, o combate prossegue, atroz, tremebundo, a cada instante reclamando novas vidas para imolar no altar flamejante do deus Marte. Soa a corneta... Mas não houve jeito de Zé Popó querer ler o que o velho escrevera, por mais patéticos que fossem os apelos. Se lhe convinha, acrescentasse alguma coisa, desse um toque pessoal aqui e ali, mas como esperdiçar um trabalho daquele quilate, em que estava tanta pesquisa envolvida, tanto esforço hercúleo de linguagem? Inútil. Zé Popó se manteve firme e, assim, em sua tarde de sábado engalanada, João Popó, apesar dos sorrisos e do peito empinado, não podia negar a si mesmo que estava um pouco apreensivo ao entrar no sobradão da sede da Sociedade.
A vergonha se instalou logo no início da cerimônia, porque Zé Popó se recusou a tomar assento no lugar de honra que lhe haviam destinado e cuja instalação tanto custara ao pai. Declarou que não via motivo para sentar-se em lugar diverso do de seus companheiros, que tinham tanto merecimento quanto ele e, além do mais, o merecimento na guerra nem sempre é reconhecido onde realmente se manifesta. João Popó não deu o braço a torcer, chegou a aplaudir as palavras do filho, mas evitou o olhar de Corinto Mello, que devia estar muito satisfeito com aquilo. A vergonha aumentou quando, depois da entrega do diploma e das saudações, uma do presidente, outra do orador oficial, Zé Popó foi conduzido à tribuna e, em vez de entrar direto no assunto do dia, disse, em tom destituído de grandiloquência, quase chocho, que não sabia sobre o que falar. Que desejavam ouvir? Não imaginassem que a guerra era feita por pessoas diversas das que estavam ali. Pelo contrário, dos praças aos marechais, era feita por pessoas como as que estavam ali, o mesmo homem que trabalha na paz trabalha na guerra. Se quisessem, contudo, teria boa vontade, embora às vezes as palavras lhe custassem e não soubesse usá-las com propriedade, em responder às perguntas que porventura lhe quisessem fazer. Baixou pesado silêncio no salão, as pessoas mexendo os pés e olhando para o soalho, alguns pigarros, algumas mudanças de posição ruidosas, cadeiras arrastadas, tábuas gemendo. João Popó sentiu as orelhas quentes, olhou em redor, não viu ninguém com cara de quem queria fazer uma pergunta. Seria tudo um grande fiasco, um chabu, uma vergonha. E se o filho de Políbio, que era metido a poeta e letrado, resolvesse fazer um improviso e tomar de Zé Popó todo o destaque? Humilhação! João Popó olhou para o filho de Políbio, achou que ele estava construindo o período de abertura de seu discurso, tinha a expressão perigosa de quem arruma na cabeça orações intercaladas. Não, não, aquilo não podia acontecer, e João Popó começou a levantar a mão para pedir a palavra. Já que a coisa chegara àquele ponto, ele assumiria o controle da situação, leria a palestra que havia escrito, felizmente a trouxera consigo. Mas teve de fingir que a mão erguida era para coçar os olhos, porque Corinto Mello, depois de limpar a garganta com o punho pedantemente fechado sobre a boca, resolveu fazer uma pergunta. O salão se imobilizou, Zé Popó pôs as mãos na barra da tribuna, olhou com solicitude para a mesa da sessão. Corinto Mello fez um pequeno preâmbulo em que repetiu algumas das melhores frases de seu discurso anterior, encostou nos lábios as mãos postas, respirou fundo e indagou de Zé Popó qual, entre todas as suas ricas experiências como herói da Pátria, a imagem que mais lhe ficara, a reminiscência que mais o perseguia, aquilo que mais se plantara em sua mente, e Zé Popó respondeu: as bicheiras. Sim, as bicheiras, falou com simplicidade. Em muitas partes do Paraguai e das áreas fronteiriças do Brasil, as moscas varejeiras eram tão abundantes que de início os homens passavam todo o tempo que podiam protegendo a carne, muitas vezes preciosa e rara. Mas depois desistiram de uma luta que sempre perdiam e se acostumaram a carne bichada, coalhada de larvinhas esbranquiçadas, se acostumaram a tudo bichado, muitos se acostumaram até a comer as próprias moscas, ou engoli-las com quaisquer líquidos que ingerissem, pois elas enxameavam em tudo. Em consequência, os feridos, mesmo levemente,
transformavam-se aos poucos em viveiros de larvas, bicheiras ambulantes. Usava-se como remédio a lavagem com clorato de potássio, mas não era comum encontrá-lo, de forma que alguns camaradas foram comidos vivos, seus corpos, seus rostos, suas vísceras cevando aqueles bichinhos, causando-lhes no início comichões que os levavam a arrancar nacos de sua carne apodrecida e depois dores fortíssimas, que tinham de arrostar na solidão, pois que nem os médicos se aproximavam deles. Mais de uma vez Zé Popó tinha visto companheiros com as caras semidevoradas, bichinhos formigando nas bochechas, nos olhos, nos ouvidos, e por isso essas bicheiras eram talvez a reminiscência da guerra que mais o perseguia. João Popó, que precisou ser contido para não interromper o filho, não esperou que houvesse reação ao que tinha sido falado e imediatamente perguntou sobre qual era o sentimento que dominava o soldado na hora de combater pela Pátria, ao que Zé Popó respondeu: medo. Mesmo depois de muitas horas de combate, mesmo depois de anos de guerra, o que se sentia era medo todas as vezes. Combatia-se apesar do medo, porque o inimigo também tinha medo e porque os bons oficiais, que da mesma forma tinham medo, davam o exemplo, fingindo corajosamente não ter medo. Em certas ocasiões, o medo era tanto que os homens corriam espavoridos fugindo da luta, e isso aconteceu com os melhores soldados, de um e de outro lado. Por causa desse medo, a guerra se tornava pior, já que os homens se desesperavam por tanto ter de dominá-lo e cometiam, quando podiam, as atrocidades mais horripilantes até contra gente indefesa, como, aliás, tinha acontecido muito nessa guerra. João Popó, muito vermelho, contestou o filho e apontou para suas medalhas, a maior parte concedida por bravura em ação. Perguntou, falando incisivamente e de olhos fixos na mesa diretora, se não era verdade, por exemplo, que uma das medalhas fora outorgada pelo salvamento de um oficial em circunstâncias de excepcional dificuldade, e Zé Popó respondeu: mais ou menos. Estava em Curupaiti, onde os aliados sofreram grande derrota e foram escorraçados pelo inimigo, e seu comandante, o major Patrício Macário, empurrava os homens apavorados para a frente, acompanhado apenas por alguns soldados. A situação ficava cada vez mais difícil, com os paraguaios parecendo multiplicar-se por vinte a cada instante e os brasileiros em pânico, correndo para trás como aves sarapantadas. Ele próprio já pensava também em fugir, inclusive porque, em gritos desconexos, os homens que corriam anunciavam acontecimentos terríveis logo à frente. Perguntou ao oficial se não achava que deviam também escafeder-se dali e ele, vendo que não havia jeito para aquela situação, achou que talvez conseguissem reagrupar-se um pouco mais atrás. Nesse instante, foi ferido de raspão na testa e logo cegado pelo sangue que lhe escorria incontrolavelmente para os olhos, além de ter ficado um pouco tonto e cambalear. Em consequência, Zé Popó fora obrigado a ampará-lo um pouco e, no caminho de volta, defendeu-o contra duas ou três investidas, com sorte em todas essas ocasiões. Mas o major andara com os próprios pés, não deixara de carregar e usar a espada e, se Zé Popó o defendeu até conseguirem chegar a lugar seguro, não se devia obscurecer a circunstância de que também defendia a si mesmo. Não falava isto por modéstia, que nem sequer considerava uma virtude respeitável, mas por honestidade e porque queria que vissem que não existem homens especiais e que o herói pode ser qualquer um, a depender de onde esteja, do que faça e de como o que faz é interpretado pelos outros. João Popó levantou-se, quis oferecer um adendo aos comentários do filho, entrou em
conflito com a mesa, que lhe cassou a palavra, mesmo porque agora já havia outras perguntas, muitas outras perguntas. Pensou em retirar-se, hesitou, foi até a porta, assistiu ao resto da sessão em pé junto à saída, fazendo menção de ir embora todo o tempo, mudando de ideia e fixando o olhar no teto sem poder dar vazão à raiva. Zé Popó havia sido ferido? Havia, sim, e o que podia dizer era que dava uma quentura enorme no corpo e uma sede medonha, uma sede como nunca havia sentido em sua vida. Mas, nesse lugar onde fora ferido, a água era fétida, pois retirada de poças onde apodreciam cadáveres, e certamente causaria cólera ou qualquer das outras pestes, como a bexiga, que matavam mais soldados que a metralha. Assim, recusou-se a beber água até o dia seguinte, quando o transportaram para um hospital, onde havia um pouco mais de limpeza, mas não muita, sendo comum que os feridos que podiam andar pedissem para não ficar nos hospitais de campanha. Não tinha presenciado nenhum dos grandes atos de heroísmo de que tanto se falava desde que a Campanha começara? Tinha, sim, tinha visto muitos atos de valentia e coragem, em ambos os lados. Mas gostaria de dizer que não se podia esquecer que eram heróis todos os que suportaram o medo, a doença, a fome, o cansaço, a lama, os piolhos, as moscas, os percevejos, os carrapatos, as mutucas, o frio, a desesperança, a dor, a indiferença, a lama, a injustiça, a mutilação. Eram todos heróis e não nasceram heróis, eram gente do povo, gente como a gente da ilha e da Bahia, que também suportava muitas dessas coisas e mais outras, até piores, sem ir à guerra nem ser chamada de heroica. E também foram heroicos os paraguaios. Não tinha ódio aos paraguaios, nem achava que se devia ter ódio deles, pois lutaram pela sua terra como nós lutamos pela nossa. Também os paraguaios eram um povo, gente como aquela gente, gente como nós. Agora tinham sido dizimados e, nos últimos meses da guerra, praticamente só havia meninos em suas tropas, meninos sem barba e de fala fina, olhinhos espantados e valentes, muitos dos quais ele mesmo matara e ninguém lhe pedisse que se orgulhasse disso, nem tivesse boas lembranças heroicas. Teria orgulho, sim, e estava seguro de que um dia teria mesmo esse orgulho, se a luta e o sofrimento fossem não para preservar um Brasil onde muitos trabalhavam e poucos ganhavam, onde o verdadeiro brasileiro, o povo que produzia, o povo que construía, o povo que vivia e criava, não tinha voz nem respeito, onde os poderosos encaravam sua terra apenas como algo a ser pilhado e aproveitado sem nada darem em troca, piratas de seu próprio país; teria orgulho se essa luta pudesse servir, como poderia vir a servir, para armar o Exército a favor do povo e não contra ele como havia sido sempre, esmagando-o para servir aos poderosos; teria orgulho se essa luta tivesse sido, como poderia ser, para defender um Brasil onde o povo governasse, um grande país, uma grande Pátria, em que houvesse dignidade, justiça e liberdade! João Popó encostou-se na porta para não cair, mas quase foi derrubado pelo tumulto que se formou, em meio a um coral desordenado de “apoiados”, “bravos”, “abaixos”, assovios, palmas, gritos exaltados, xingamentos. — Viva o povo brasileiro! — gritou Zé Popó da tribuna, com o punho fechado apontando para cima. — Viva nós!
Capoeira do Tuntum, 13 de junho de 1871.
As almas e os espíritos às vezes zumbem. Não é bem que zumbam, é que, quando o ambiente está muito carregado deles, parece haver uma vibração atmosférica que, aos ouvidos dos indivíduos sensíveis, zune como um zumbido. Rufina do Alto, por exemplo, declarou logo ao chegar à capoeira que parecia haver um abelheiro em cada moita. — Tá um anxame — disse ela a sua filha Rita Popó, que vinha junto dela, carregando a cestinha dos preceitos. — Diga a esse povo que tenha paciência, a trabalheira hoje vai ser grande, preciso pegar fôlego. Tomou a cestinha, andou a passadas largas para a encruzilhada, farejando as almas que sabia estarem por ali, os cabocos e as outras entidades. Já antecipava o cansaço em que estaria no fim da noite, ficou um pouco de mau humor. Chegou à encruzilhada, se aborreceu por encontrar gente por perto, enxotou todo mundo com impaciência. Zumbideira desgraçada, não haveria outro lugar neste grande mundo para aquelas almas todas irem? Suspirou, acocorou-se junto ao cruzamento das duas trilhas, agora já tão pisadas que eram bem mais fundas que o terreno em volta, prendeu a saia entre os joelhos dobrados, começou a tirar suas coisas da cestinha devagar. O zumbido realmente a incomodava e, antes de beijar suas contas e se benzer com elas, correu os olhos com irritação pela escuridão das touceiras e das árvores que cercavam a capoeira. — Frelvilhando de gente aí — resmoneou, esticando o lábio inferior. — Tomara que não saia porrada. Arrumou todos os preceitos, pôs uma mão na testa e com a outra levantou uma quartinha de cachaça até a boca, puxou-lhe a rolha com os dentes e tomou vários goles compridos. Cuspiu de lado, tirou um charuto preto de dentro dos cabelos, enfiou-o no canto direito da boca, entre a bochecha e as gengivas. — Sa menina Rita, pode trazer esse povo! — gritou em direção ao outro lado da capoeira. — Sem barulho nem muita conversa! Quando chegaram até ela, encontraram-na com os cabelos soltos, os olhos injetados, uma expressão no rosto que deixava todos um pouco inquietos, um pouco amedrontados. Rufina era grande feiticeira, das maiores feiticeiras entre as muitas grandes feiticeiras da ilha, e sua disposição, quase sempre meio desapoderada, intimidava quem se aproximasse dela na hora em que estava reunindo seus poderes mágicos. — Cenda mô charuto — ordenou ela, sem visar ninguém em especial, e um preto magricela correu para uma fogueirinha e voltou com um tição. Ela levou muito tempo acendendo o charuto e depois soprando grandes lufadas de fumaça para cima. — Tchobém — falou afinal. — Centração. Oração. Mas não precisou demorar rezando em voz baixa, com os dedos espremendo a testa, porque logo seu corpo estremeceu, o charuto quase caiu da boca, a cabeça quis soltar-se do pescoço e ela deu um pulo repentino, que fez todos recuarem um passo. — Rrrreis! Rrrreis! Reixe! Queré-quexé, queré-quexé, queré-quexé! Quêde-quêde todes menines, echiquitái queres falares, todes menines! Hum! Rrreixe!
Rufina tinha razão, seria uma noite azafamada, porque se vira bem que aquele caboco tinha chegado depois de disputar com os outros, numa briga feia pelo cavalo. E que belo caboco era, muito altivo, muito sanhudo, muito elegante, muito comunicativo em sua fala arrevezada. Rita Popó devolveu o olhar que ele lhe endereçava e sentiu um solavanco na espinha. Que noite!
Patrício Macário deixou a quinta de Jefferson Pedreira sem falar com ninguém. Também não ia a lugar nenhum, só queria sair um pouco, já estava com os olhos ardendo da fumaça dos charutos e um tanto cansado de ouvir os mesmos argumentos em favor da forma republicana de governo. Conhecia aquilo tudo de cor e a verdade era que não estava havendo propriamente um debate lá dentro. Cada um, em vez de prestar atenção no que o outro falava, ficava pensando no que ia dizer quando chegasse sua vez, mesmo que fosse para repetir com outras palavras tudo o que já se dissera antes. Normalmente tinha muita paciência com isto, até gostava, quando os oradores eram bons, mas desta vez lhe faltava disposição. A noite estava clara, ele caminhou para uma árvore grande, cujo nome não conhecia. Alisou-lhe o tronco, aspirou o ar fresco e lavado pela chuvinha que caíra fazia umas duas horas, levantou o rosto para olhar para a lua, muito luminosa num céu sem nuvens. Sempre gostara de Itaparica, não só da vila como dos recantos como essa quinta, agasalhados pelos matos, cercados de árvores mansas e plantinhas de todas as cores, noites animadas por vagalumes e grilos, uma brisazinha fria agitando as folhagens, janelas iluminadas por luzes suaves. Ficar lá dentro conspirando, ou brincando de conspirar, numa noite assim, chegava a ser pecado. Sorriu sem saber a razão, notou que, pela primeira vez em muitos dias, não encarava a vida com desesperança, com um grande tédio viscoso. Chegara muito moço a major, era verdade, mas agora a vida militar lhe parecia um deserto fastidioso, cercado de colegas medíocres, de carreiristas bajuladores como Vieira, por sinal já também major às vésperas de outra promoção, em época em que elas ficavam cada vez mais lentas. Que fazer, para onde ir? Talvez ainda fosse cedo para contar com isso, mas as mudanças que ele esperava para depois da guerra não davam o menor sinal de que algum dia se concretizariam. Pelo contrário, o Exército continuava mal pago, quando pago, maltrapilho, mal equipado, desmoralizado, corrupto e malvisto. Os negros, que tinham carregado a maior parte do peso da guerra nas costas, não podiam ser chamados de soldados, embora tivessem voltado da guerra soldados, pois que ainda eram de fato escravos — e como se podia ter um Exército de escravos e não de soldados livres? Nada, enfim, tinha mudado, nada acontecera do que ele, naquele dia de bebedeira em Corrientes, dissera a Vieira tão enfaticamente. Então nada mais natural que o desalento, que nem era minorado pela ebulição republicana de alguns idealistas. Ele mesmo se tornara partidário dessas ideias, achava vagamente que a República poderia levar o país a melhores caminhos, mas que podia fazer para trabalhar por ela, degredado no Distrito Militar da Bahia, comandando um bando de roceiros analfabetos e bêbedos irrecuperáveis, convivendo com oficiais incapazes de pensar em outra coisa senão dinheiro e locupletação? Nem mesmo tinha as ideias claras a respeito do assunto, por falta de estudo e de informação, até de conhecimento do que se passava no país. E conspiradores eloquentes e bem
intencionados, como seu amigo Jefferson Pedreira, de pouco valiam, pois estavam praticamente na mesma situação que ele, provincianos inexperientes que leram dois ou três livros em francês. Estava certo, era bom que tivesse vindo a esse encontro na ilha, casava bem com as férias que acabava de iniciar, talvez fosse uma oportunidade para sair do torpor que a mesmice da vida de caserna lhe instilara. Mas a Natureza o atraía mais do que o estudo comparativo dos graus de avanço das diversas nações que optaram pela forma de governo republicana, o qual vinha sendo desenvolvido com fúria exoftálmica por um bacharel que ele conhecera naquela noite e não calara a boca desde que chegara à quinta. Sim, mas se nada era mais compreensível que seu desalento, compreensível também foi que se encantasse por ver que ele se dissolvia, perdia a razão de ser, nessa noite tão bonita, tão amistosa e calma. Talvez tivesse até razão para más lembranças de Itaparica, pois afinal fora aqui, embora na contracosta, que acontecera o grande fiasco da operação comandada por Vieira. Mas não, isso não incomodava, parecia coisa vivida em outra existência, por outra pessoa. Somente a recordação da belíssima mulher com quem conversara rapidamente é que permanecia muito vívida, como se não tivesse sido aquela a única vez em que a vira, como se ela tivesse alguma coisa a ver com ele mais do que justificaria uma curta e ríspida conversa. Onde andaria ela? Falava-se que continuava a mesma bandoleira de sempre, que sumira nos sertões, que virara santa, que libertara escravos e guerreara ao lado de índios rebeldes, que obrara milagres, que podia tornar-se invisível e que não tinha idade. Tudo lenda, naturalmente, mas assim mesmo tinha curiosidade sobre ela. E foi com uma espécie de nostalgia, uma espécie de saudade indefinida, a sensação de que já tinha estado ali nas mesmas circunstâncias, só que mais feliz e inocente, que começou a andar distraído por uma trilha antiga, afundada no meio do capinzal grosso que defrontava a quinta por aquele lado. À luz da lua, as folhas ainda molhadas assumiam feições diversas a cada instante e ele caminhou entre elas se entretendo em sacudi-las para ver as gotinhasd’água se esfacelando nos raios que varavam as copas das árvores mais sobranceiras. Não notou que a trilha fazia muitas curvas e que já não sabia direito onde estava, quando chegou à beira de uma clareira ampla e, do outro lado, avistou um grupo numeroso de negros e mulatos, somente dois ou três brancos, cercados por fachos e fogueirinhas, reunidos em torno de alguém agachado. Deviam ser os negros nas suas práticas fetichistas, que eram proibidas mas todos sabiam que persistiam. Podia ser uma coisa interessante de assistir, embora, se ele se mostrasse, provavelmente interrompessem a cerimônia. Resolveu então esconder-se, entrou pelo meio das touceiras altas que circundavam a clareira, achou um toco velho onde se sentou como num tamborete e, oculto pela rama dos arbustos, começou a assistir ao ritual dos negros.
Quando Maria da Fé soube que Zé Popó, aproveitando estarem de passagem pela ilha de Maré, ia fazer uma visita rápida à mãe, que não via desde a volta da guerra, disse que ia junto com ele e, depois que falou, ficou surpresa. Por que tinha dito aquilo? Não havia razão para ela arriscar-se nessa viagem, se bem que o risco na verdade fosse muito pouco, pois, indo somente eles e a tripulação de um saveiro, não chamariam a atenção e saberiam como esconder-se, se preciso. Mas por que ir a Itaparica? Não conseguiu atinar com um bom pretexto. Dia de Santo Antônio, as novenas zunzunando pela noite adentro, os pretos
provavelmente aproveitando a folga para alguma cerimônia religiosa, nada para fazer em especial. Bem, talvez sentisse saudades da ilha, afinal tinha vivido lá tanto tempo e lá a lembrança de Vô Leléu estava em toda a parte. De qualquer forma, já resolvera ir e, quando Zé Popó saiu com a vazante e o saveirinho embicou para o sul na direção de Itaparica, ela sentiu o coração de leve como se estivesse boiando naquela aragem macia. A noite ia descer daí a pouquinho, o céu começou a arroxear a boreste e, de repente, como uma montanha cinzenta que houvesse decidido emergir do fundo do mar, uma grande baleia apontou à frente, envolta na bruma criada pelo vapor de seu esguicho. Maria da Fé levantou-se deslumbrada, correu à proa para ver melhor o enorme bicho, que mal se mexia, com a metade do corpo fora d’água, numa majestade plácida e imponente. E já o saveiro se aproximava tanto que Maria da Fé imaginava que chegaria a tocar na baleia, quando ela emitiu um som melodioso e gutural, estranhamente delicado para um animal daquele tamanho, arqueou o lombo numa curvatura graciosa e mergulhou no mar, deixando atrás uma crista de espuma. Maria da Fé soltou o fôlego, que pareceu haver prendido durante todo o tempo que durou a aparição maravilhosa, e sentiu uma alegria extasiante, um arroubo juvenil de felicidade e liberdade que fez abrir-se num sorriso largo, enquanto o barquinho cambava a estibordo e fazia prumo direto para a velha Ponta das Baleias, emoldurado por um céu todo vermelho. Assim que fundearam em Ponta da Areia, souberam por um recado trazido pelo saveirista Bernardino, mandado a terra antes de desembarcarem, que Rufina, como, aliás, já se esperava, estava indo para a Capoeira do Tuntum, era noite de trabalho. Ancoraram o barco, desceram à praia no caíque e tomaram a trilha para o Tuntum, como se, por direções opostas, houvessem marcado encontro com Patrício Macário.
Patrício Macário deixou o toco onde estava sentado e decidiu aproximar-se mais do grupo em torno da encruzilhada. Queria ver melhor o que se passava, ouvir direito o que falavam. Havia, evidentemente, uma espécie de sacerdotisa principal, que comandava as ações e tinha um comportamento muito curioso, alternando períodos quietos, junto a suas velas e fetiches, com momentos em que andava, corria, pulava, se mexia e discursava numa linguagem tataranhada, que soava como uma espécie de galego mal falado. De onde estava, não percebia quase nada do sentido que ela dizia. Estaria dando receitas, prevendo o futuro, lançando maldições? Tomando cuidado para não fazer barulho, começou a arrodear a capoeira pela periferia, mantendo-se por trás das touceiras. Quando já estava bem próximo da encruzilhada, um novo grupo apareceu, vindo do outro lado, quatro ou cinco pessoas, inclusive uma que parecia ser uma mulher encapuzada, muito alta. Achou melhor não prosseguir, de onde estava já podia ver tudo muito bem. Não encontrou um novo toco para sentar-se, encostou-se numa árvore. E se realmente aquela feiticeira operasse feitos mágicos? Sempre ouvia histórias, conhecia gente que jurava a veracidade de muitas coisas acontecidas pela força de feitiços e mandingas. Não, bobagem, era tudo invencionice, versões distorcidas de eventos normais. Se bem que ali, perto do grupo e de suas fogueiras, fazia frio, um frio esquisito, e os matos não mostravam aquela aparência tranquila e calma de em torno da quinta. Teve um arrepio, puxou
a gola do casaco para agasalhar o pescoço, olhou em volta como para certificar-se de que estava mesmo sozinho e voltou a prestar atenção na cerimônia. Quem era aquele recémchegado espadaúdo, de cabelo encaracolado? Era uma pessoa conhecida. Mas, claro, era seu antigo soldado, o cabo José Hipólito, o Zé Popó! Patrício Macário quase sai do seu esconderijo para falar com ele, mas pensou melhor e se deteve. Agora outras pessoas, que não a sacerdotisa, pareciam possuídas por alguma coisa, agindo como se estivessem fora de si. Uma moça vistosa, de saia colorida e rodada, com quem Zé Popó estava começando a falar, desprendeu-se dele e, rodopiando como um pião, se embarafustou pelos matos. A sacerdotisa, um pouco bamba, tirou seu charutão da boca e fez uns círculos no ar em direção a ela. — Deixá! Deixá! Xá! — gritou para os que tentaram seguir a moça. — Deixá ela! Repentinamente, um silêncio completo se instaurou no grupo, os grilos e sapos voltaram a ser ouvidos, o vento abanou as folhas da árvore e ele teve novo arrepio. Era um lugar esquisito mesmo, tudo parecia ter vida, o ar mantinha alguma coisa permanentemente engatilhada. Não, não era agradável ficar ali e ele começou a pensar em voltar. E que diabo de barulho era esse agora, como se alguém estivesse atacando os matos a pauladas? Algum bicho, talvez? Mas que bicho seria, para fazer um barulho desse tipo? Desencostou da árvore, voltou-se na direção do barulho e tomou um susto que o deixou sem fala. Diante dele, com uma expressão terrificante no rosto, olhos brilhando, cabelos desgrenhados, dentes à mostra num riso desagradavelmente confiado, braços abertos como para abraçá-lo, a moça de saia colorida parou quando ele se voltou e empinou o queixo em sua direção duas ou três vezes. — Comensria! Comensria! — falou, quase rosnando, numa voz que não parecia ser dela. — Fu! Ar-gúti-gúti-gúti! Fu! Comensria nu, han? Fu! Nurrísti gúti-gúti-gúti, Iá, líbichim Fu? Comensria! A voz, apesar de ainda áspera, se adoçou, a expressão passou a terna, ela inclinou o pescoço com um sorriso amável. Patrício Macário ficou indeciso, não sabia como reagir. — O que você quer? — perguntou, procurando soar firme, mas não hostil. — Fu! Fu! Movendo-se com rapidez, ela o abraçou, encostou o rosto no dele e começou a alisarlhe as costas, mas ele, assustado, a empurrou e deu um grito involuntário. Imediatamente o grupo da encruzilhada, como se já estivesse ali desde a chegada dela, rodeou os dois, com a mulher do charuto à frente. — Hum! — fez ela, muito alto, aproximando-se de Patrício Macário e inspecionandoo de cima a baixo. — Hum! Os outros, como se confiassem que a mulher os protegeria, caso aquele branco estranho quisesse fazer alguma coisa contra eles por encontrá-los em atos proibidos, não se moviam, tinham os olhos presos a ela. Patrício Macário se desvencilhou do abraço da moça e ia dirigir-se à mulher do charuto, quando deu com Zé Popó. — Comandante, o senhor aqui? — Fico contente em vê-lo, cabo, porque a situação é muito estranha. Cheguei aqui por acaso e estava apenas observando o que se passava, quando essa moça me atacou. Aliás, não sei bem se me atacou, agarrou-me, pelo menos. Não tenho nada contra suas práticas, não tenho a intenção de interferir nelas, mas acho que isto é ir longe demais. Zé Popó sorriu. Achava natural que o major, por não ter familiaridade com nada
daquilo, não compreendesse o que havia acontecido, na realidade uma coisa inofensiva. Ali estavam sendo recebidas entidades, cabocos, espíritos, almas de ancestrais, parentes e amigos, e certamente a entidade incorporada por sua irmã Rita conhecia o major, talvez fosse até o espírito de algum comandado seu, morto na guerra. Patrício Macário fitou a moça, agora parada junto à mulher do charuto, mas ainda com seu olhar inquietante fixado nele. Mal ouviu Zé Popó explicar-lhe ainda que aquela gente não desejava nem iria fazer nada de mais, apenas entregar-se a uma prática que vinha de muitos e muitos anos, passada de geração em geração. Pedia ao major que os perdoasse, não os levasse a mal, muitos deles eram pobres cativos, não tinham alegria nenhuma na vida, exceto aqueles pequenos momentos secretos. — Hem? — disse Patrício Macário, quando Zé Popó lhe fez uma pergunta. — Perguntei se o senhor vai tomar alguma medida contra eles. — Medida? Por quê? Medida, como? Não, claro que não, não sou policial e tenho mais o que fazer do que tomar esse tipo de medida. Pelo contrário, estou curiosíssimo. Você disse que essa moça está... — Está incorporando uma entidade. — Sim, incorporando, incorporando uma entidade. Você disse que essa moça está incorporando uma entidade que me conhece? Como assim? Me conhece como? — Bem, isto talvez seja difícil de saber, major. Eu mesmo não entendo bem desses assuntos, estou aqui porque minha mãe... Minha mãe é esta senhora aqui. Patrício Macário recobrou-se da surpresa rapidamente, fez menção de cumprimentar Rufina, mas ela, de olho revirado para cima e mão direita displicentemente apoiada no quadril, não tomou conhecimento dele e Zé Popó continuou falando. — Minha mãe — disse Zé Popó — é herdeira de uma grande tradição. Tudo o que ela sabe, aprendeu com a falecida Mãe Inácia, de quem o senhor nunca deve ter ouvido falar, mas pertencia a uma espécie de linhagem, uma linhagem que tem sua nobreza, que vem de Mãe Dadinha, de Mãe Inácia e de outras, muito raras e prezadas por esse povo todo. Mas são coisas desse povo, em que o senhor com certeza não estará interessado tanto assim, são coisas do povo mesmo. — Não, eu me interesso, me interesso, sim. Quer dizer que a senhora sua mãe... interessante, muito curioso. Eu nunca podia imaginar... Que coincidência, encontrar você aqui, numa noite como esta. — Muita coincidência mesmo, major, eu venho aqui muito pouco, não moro aqui. — Sim, nem eu, é claro. Mas voltando a sua irmã — não é sua irmã? — Minha irmã, Rita. — Pois então, voltando a sua irmã, como posso ouvir a respeito dessa tal entidade que me conhece? Se me conhece, deve saber alguma coisa sobre mim. Isso seria uma comprovação interessante de fenômenos em que jamais acreditei. Há possibilidade de eu conversar com ela, estando ela nessa condição? Zé Popó ia dizer qualquer coisa, mas Rufina se antecipou, fazendo um novo “hum” muito alto. — Hum! Acho bom não — disse, com a voz engrolada. — Saí é Sinique. Eu vou ver se ele vai embora unstantinho, aí eu explico a situação. Não vai ser fácil, porque ele está
encasquetado. — É quem? Desculpe, não entendi bem. — Sinique é um caboco — esclareceu Zé Popó. — Já ouvi muito falar nesse Sinique, é um caboco forte, parece que holandês, um caboco que xinga muito e derruba cercas. Rita Popó deu um repelão na mãe, que a segurava por um braço e lhe punha a mão alternadamente na testa e na nuca. — Náin, náin, náin! — gritou com a mesma voz roufenha de antes. — Euche non fai, non fai, non fai! Euche fica! Euche non fai! — Ele está encasquetado mesmo — disse Rufina. — Vou ver se levo ele ali para conversar, ver se acalmo ele. — Ele? — perguntou Patrício Macário a Zé Popó, enquanto Rufina se afastava na companhia de Rita, em direção à encruzilhada. — Eu sei que ela, como você diz, incorporou uma entidade, mas aí ela deixa completamente de ser ela? — É, aí é só o corpo dela. Aqui se diz que ela é o cavalo desse caboco. — E por que esse caboclo ia se interessar em mim? Julguei que você tinha dito que era alguém que me conhecia, mas, se é esse tal caboclo, como ele poderia me conhecer? Aliás, outra coisa curiosa, um caboclo holandês, não foi o que você disse? — É, foi isso que me ensinaram. É uma história complicada, meio sem pé nem cabeça. Dizem que ele era um holandês que foi deixado para trás quando eles fugiram depois da invasão e aí foi gado do caboco Capiroba, que é outro caboco famoso, mas que há muito tempo não se manifesta em lugar nenhum, nem em Amoreiras, onde se fala que todos os espíritos se juntam e todos vêm, mesmo não sendo chamados. — Foi gado do caboclo Capiroba? Você disse “gado”? — É, mais ou menos. A história é que esse caboco Capiroba, que depois de se tornar caboco espírito virou protetor do índio, do preto e do povo da terra, morava nos apicuns e criava holandeses para corte. Ele engordava os holandeses num cercado e, quando chegava a época certa, matava um para comer com suas mulheres e filhas. Dizem que tinha muitas mulheres e só filhas, nunca filhos. — Você tem razão, a história é inteiramente sem pé nem cabeça. Mas você acredita nisso, não? — Nem acredito nem desacredito. Mas a verdade é que tenho visto muitas coisas. — Claro, com sua mãe exercendo essa atividade. Ela tem alguma designação oficial, algum cargo, por assim dizer? — Não, não, o povo não raciocina assim, as coisas para eles não são organizadas dessa forma. Eles a chamam de Mãe Rufina, mãe, mãe de santo, feiticeira, cada um chama o que acha que ela é, varia de pessoa para pessoa, ou de grupo para grupo, talvez. — Muito interessante, curiosíssimo. Ela impõe muito respeito, não? Tem um ar de autoridade forte, apesar da fala difícil de entender. — Isso também varia. Quer dizer, não o que o senhor chama de autoridade, porque isso ela sempre tem, afinal seus poderes e sua ciência realmente existem para todo esse povo e poucos podem comparar-se a ela neste aspecto. Mas a fala varia. Quando ela está incorporando... — Ah, ela também incorpora? Claro, que pergunta, naturalmente que deve incorporar,
afinal é uma espécie de suma sacerdotisa. — Sim, incorpora e então fala língua de caboco e essa própria língua varia de caboco para caboco, conforme a origem dele, o tempo em que viveu, até as manias dele, é complicado. — Percebo, é óbvio, claro. Então era por isso que sua irmã estava com aquela voz e aquela algaravia estranha. — É, era Sinique falando. — E a dona Rufina também estava incorporando? Achei a fala dela também estranha, embora nem de longe como a do holandês. — Não, é que ela bebeu quase uma quartinha de cachaça, a julgar pelo resto que ainda ficou na encruzilhada. — Ela bebeu cachaça? Isto faz parte do ritual, é indispensável, digamos, para a convocação dos espíritos? — Não sei bem. Ela sempre bebeu cachaça e Mãe Inácia também bebia. Dizem que Mãe Dadinha, a mais famosa e reputada de todas, não bebia. Mas minha mãe bebe, bebe todas as vezes em que tem de trabalhar aqui na encruzilhada, embora normalmente não toque em bebidas alcoólicas. — Fascinante! Mas então os caboclos ficam também sob o efeito da cachaça. Claro, pois se estão no corpo de alguém que se embriagou... — Não, isso não acontece. Se o senhor ficar aqui, o senhor verá. — Claro que vou ficar! Nada me tiraria daqui, sempre tive muita curiosidade por essas coisas, principalmente agora que surgiu o misterioso interesse desse caboclo por mim. A não ser, é claro, que minha presença se torne inconveniente por alguma razão. — Ora, major, como poderia ser inconveniente a sua presença? Eles estão agradecidos ao senhor, por ter manifestado tanta compreensão, quando qualquer outro os repreenderia e provavelmente procuraria denunciá-los. Aliás, eu também agradeço. — Que bobagem, cabo, tenho um irmão que é padre e acredito no latinório dele ainda menos do que acredito nessas coisas, sem querer ofender a ninguém, é claro. Em matéria de religião, posso considerar-me um agnóstico, embora pratique os atos católicos em ocasiões que não posso evitar. E em matéria de costumes, creio que posso ser considerado um liberal, estou pouco me incomodando com as práticas fetichistas dos pretos, contanto que as levem adiante sem ofender ninguém ou prejudicar o trabalho. — É, mas nem todos pensam assim. Aliás, muito poucos pensam assim. — Eu sempre tive fama de esquentado e sou mesmo. Esquentado porque não suporto que violem direitos meus que considero sagrados. Então tenho simpatia pelos que procuram exercer esses direitos, que para mim seriam sagrados. — Olhe que isto envolve a libertação dos negros, major... — Digo-lhe a verdade: eu sou a favor. Sempre fui e agora sou mais, depois que lutei, lutamos, ao lado de tantos negros na Campanha. Mas não falemos de política agora, acabo de fugir de uma reunião política, infinitamente menos interessante do que esta. A dona Rufina demora muito? Não que eu tenha pressa, não tenho nada para fazer, estou de férias, mas a curiosidade é grande.
A uma distância relativamente curta podiam ver Rufina e Rita, acocoradas na encruzilhada. Rita, às vezes levantando-se de excitação e gesticulando muito, parecia fazer um relato compridíssimo a Rufina, relato este interrompido por exclamações e apelos quase chorosos. Rufina limitava-se a conter de vez em quando os movimentos exaltados da filha e a ouvir o relato com nutos lentos e judiciosos. Mas, quando falava, a filha não lhe prestava atenção, chegava a puxar os cabelos exasperada e tentava correr para as árvores. — Aquilo eu acho que vai demorar — disse Zé Popó. — O senhor não aceitava beber qualquer coisa? Comer qualquer coisa? — Comer, beber? Não me diga que estabeleceram também um refeitório aqui! Cabo, eu estou cada vez mais pasmo, quantas coisas acontecem em torno de nós, bem debaixo dos nossos narizes, e não nos apercebemos delas! Há comida e bebida aqui? — Não do tipo a que o senhor esteja acostumado. A comida, por exemplo, é boa, mas não creio que o senhor a conheça, há de tê-la visto no máximo em feiras ou festas de largo. A maior parte dela é feita no dendê. — Já comi, já provei, gostei! É um pouco forte, mas eu gostei. — É comida pobre, feita de feijão, de miúdos, das folhas que são encontradas no mato, coisa de pobre mesmo, mas é boa. — Vamos lá, cabo, isto está me saindo uma aventura muitíssimo melhor que a encomenda. E bebidas, você disse? — Sim, bebidas de pobre também. Aluá de abacaxi... — Suco de ananás? — Não, é uma bebida feita pela infusão de cascas de abacaxi em água, é muito saborosa. — Mas não há nada mais forte? Quero dizer, esse como-é-o-nome não contém álcool, pois não? — Não, não contém. Mas há outras bebidas que contêm. Nesta época do ano, fazem muitos licores, de jenipapo, de maracujá, de pitanga, de folhas aromáticas, de leite... — Não me diga, cabo José Hipólito, não tivesse você dado baixa, eu o faria sargento amanhã! Contornaram a encruzilhada sem se aproximar muito dela, chegaram a um lugar onde o capim era baixo e, em cima de panos e tábuas, a comida estava exposta. Do lado direito, arrumadas como uma fileira de soldadinhos de chumbo, as quartinhas dos licores. Patrício Macário destapou e cheirou uma por uma, serviu-se de uma dose generosa de licor de jenipapo. — Não se serve também, cabo? Não gosta desses licores? — Vou acompanhar o senhor. Apenas um trago pequeno, ainda vou ter de viajar antes do amanhecer. — À nossa, cabo! E de certa maneira, devo a você a minha saúde, ha-ha! — Bondade do senhor, major. À nossa! — É uma pena que tenha deixado os charutos lá na quinta. Um charutinho agora viria a calhar. Você não tem um, por acaso? — Não, senhor, eu não fumo.
— Mas certamente alguém por aqui tem um. Olhe ali, eles estão fumando umas cigarrilhas. — Mas aquilo não é fumo tabaco, major, é outra espécie de fumo, é fumo d’Angola, chamado também de liamba. — Verdade? Nunca ouvi falar. Posso experimentar? — Bem, eles fumam para sentir coisas. — Sentir coisas? Como assim, você quer dizer que eles fumam isso e sentem coisas? Você acredita nisso? Acha possível a pessoa fumar uma cigarrilha e sentir coisas? — Não tenho certeza. De qualquer forma, é muito diferente do fumo tabaco. — Vá, consiga-me um, cabo, quero experimentar. — Pois não, major. Patrício Macário deu uma tragada na cigarrilha de palha que Zé Popó lhe trouxe, não gostou do sabor a princípio, mas, depois de um gole do licor, achou que a combinação era boa. Sentou-se num tamborete, indicou outro para Zé Popó, encostou-se numa árvore. Esticou as pernas, deu outra tragada, bebeu mais um gole, sentiu-se infinitamente bem, muito leve, quase sem peso, toda a paisagem adquirindo um novo encanto. — Cabo José Hipólito, devo agradecer-lhe. Estava numa noite excepcionalmente paulificante e agora você me proporciona um extraordinário bem-estar. Formidável este licor, formidável este fumo. Enlevado com tudo em torno, terminou por esquecer a cigarrilha, que se apagou e caiu de seus dedos relaxados. E não tinha certeza de que não estava sonhando, quando, levado pelo braço por Zé Popó para a encruzilhada, foi deixado a sós com Rufina e ouviu uma história que entendeu e ao mesmo tempo não entendeu, mas que de qualquer forma o maravilhou, a ponto de às vezes achar que estava vivendo os episódios, num mundo de luz difusa e contornos imprecisos. Contou-lhe Rufina que ele tinha a mesma alma que Vu, filha do caboco Capiroba e, portanto, num certo sentido, ele era Vu. Essa Vu tinha sido mulher do caboco Sinique, e por isso Sinique, agora que a alma de Vu se encarnara num homem, baixara numa mulher para poder beijá-lo. Disse ainda que ele não podia talvez entender essas coisas, mas lhe contara Sinique que ele, Patrício Macário, logo encontraria uma mulher que antes era o caboco Capiroba e essa mulher e ele se amariam. Mostrou-lhe então, narrando tudo em pormenores, como essa mulher, cuja identidade ela conhecia mas não podia revelar, era também descendente carnal do caboco Capiroba, pai de Vu, bisavô de Dadinha, trisavô de Turíbio Cafubá, tetravô de Daê, também chamada de Vevé, avô no quinto grau dessa dita mulher, a qual, portanto, considerando as almas, era ancestral de si mesma — e isso devia querer dizer alguma coisa, Rufina não sabia o quê. Visse também que essa mulher e ele, por ter ele a alma de Vu, eram sob um aspecto almas parentas, tendo sido Vu a filha que mais saiu ao grande caboco Capiroba — e isso seguramente queria dizer alguma coisa, que o major descobriria no devido tempo. Algo era certo, certíssimo: aquilo tudo era coisa armada, coisa feita, coisa orquestrada, que ele não se enganasse e procurasse aprender. Ele podia não acreditar, mas era parte daquele povo, talvez não pela carne, mas muito mais fundo, pela alma — e estava ali por alguma razão, não era à toa. Olhou para ele com a mão em seu ombro, sorriu.
— Você está sendo encantado — disse. — Não está? Ele, devaneando, não respondeu, mas pensou, com a tranquilidade mais total que já sentira na vida, que de fato estava sendo encantado, que entrava em outro mundo, que abria uma porta antes insuspeitada, mas, estranhamente, não se sentia inseguro, tinha a sensação de que o desconhecido era de alguma maneira conhecido, familiar. E nem se admirou quando, levantando o rosto, deparou-se com a figura alta de Maria da Fé, de pé diante dele, tão bonita quanto a vira antes, os olhos verdes refletindo a luz das fogueiras, a cabeça emoldurada pelo capuz descido. Então era isto, sim, era isto, estava tudo muito claro, nada requeria explicações, tudo deslumbrantemente claro, e ele estendeu a mão para ela, que o ajudou a levantar-se. Já tinha sido tocado por aquela mão, sim, já tinha chegado muito perto daquele rosto de beleza indescritível. Não falaram nada a princípio, permaneceram de mãos dadas, em pé junto à encruzilhada, enquanto, pulando aqui e ali, entrando em todas as cabeças disponíveis, os cabocos e as almas faziam seu entremez de falas arrevezadas e saudades, uma algazarra alegre e festiva. Ali passaram, com Patrício Macário mergulhando cada vez mais fundo em seu encantamento, todos os amigos e parentes, passou Nego Leléu, que abençoou a neta, passou Turíbio Cafubá, que também abençoou a neta, passou Dadinha, que abençoou a ambos, passou Aquimã, todo tortinho, que saudou os dois misturando holandês com castelhano, passou Sinique, que beliscou Patrício Macário e mostrou a língua a Maria da Fé, passou até a negra Esmeralda, toda sorridente e dançando com a saia arrepanhada. A lua terminou a travessia da abertura entre as copas das árvores por cima da encruzilhada, a noite ficou mais negra, Patrício Macário viu-se completamente encantado.
16
Salvador da Bahia, 7 de julho de 1871.
O Tico conheceria a linguagem das flores? Henriqueta sentiu um calor pontiagudo subir-lhe pelo pescoço até as orelhas, enquanto arrumava um grande buquê de jasmins pequenos no vaso de Macau que ficava sobre a cômoda do quarto do cunhado. Arrancou algumas folhas para realçar melhor as flores, afastou-se um pouco para ver o resultado, achou que estava tudo perfeito. Apanhou de junto do vaso o exemplar encadernado em cor-de-rosa do Calepino dos Enamorados, abriu-o no capítulo intitulado “As Flores Falam” e conferiu: jasmins miúdos significavam mesmo paixão. Afogueou-se outra vez, perguntou-se se teria escolhido a mensagem certa. Talvez fosse um pouco forte, atirada em excesso, mas — bolas! — ela sempre tivera o temperamento atirado mesmo e já não lhe restava paciência para mais nada, vivendo esta vidinha sufocante. O problema era ele não entender a mensagem, porque o Tico, apesar de muito requestado pelas mulheres, não se dava a galanterias. Sim, mas seria uma perfeita loucura, um completo desatino, deixar por ali o Calepino, para que ele pudesse consultá-lo. Não, nada disso, óbvio demais, oferecimento demais. Além disso, sem o livro por perto, ela também poderia alegar não saber do significado daquelas flores, podia manter as coisas na ambiguidade que sempre convém a situações desse tipo. Teria lido o livro, sim, num momento de frivolidade inocente, mas naturalmente que não se recordava do significado das flores, aquelas tolices românticas não lhe ocupavam a mente. Imaginou-se dizendo isso ao cunhado com uma expressão inteiramente oposta ao sentido das palavras, deixando-o na mais deliciosa dúvida. Essas manobras tinham muito encanto, requeriam um delicado senso de sutileza, mas, ao mesmo tempo, que impaciência! Abriu a sobrecarta perfumada em que pusera o cartão que deixaria junto ao vaso. Que nervosismo, tendo que escolher vocábulos, pisar em ovos, tomar cuidado para não dar um passo em falso! Muito bem, mas estava bem escrito o cartãozinho, o perfeito equilíbrio entre a simples cortesia carinhosa de uma cunhada e a provocação. “Bem-vindo de volta à casa”, dizia o cartão. “Trouxe-lhe estas flores, que eu mesma escolhi a capricho, para alegrar seu quarto e ajudar a ocupar sua mente com coisas mais agradáveis. Pense nelas, que lhe fará bem. Carinhosamente, H.” Bem, talvez devesse tuteá-lo, afinal não era tão mais velho do que ela assim e era seu cunhado, moravam na mesma casa. E a expressão “a capricho” não era bem a que ela queria, para indicar que se tratava de uma mensagem através de flores. Queria uma palavra mais incisiva, embora não transparente demais, mas não conseguira encontrá-la. E o “que lhe fará bem” era realmente necessário? Por que não, simplesmente, o “pense nelas”? Que irritação, precisar ficar beliscando palavrinhas, quando a vontade que tinha era escrever uma carta transbordante de paixão e ardor, era fazer as mesmas coisas que a astuciosa Charlotte, personagem do romance libertino que Titiza lhe emprestara em segredo, a qual não se detinha diante de nada quando decidia receber um homem na alcova. Ai, que frisson! Enfiou o cartão na sobrecarta, equilibrou-a junto ao vaso, achando no último instante que fora comedida demais. Lembrou o pensamento de Madame
d’Arconville que havia sublinhado com a unha no livro: “Les hommes admirent la vertu, mais c’est la coquetterie qui les subjugue.” Mas coquetterie e elegância na Bahia? Mais fácil bananeiras crescerem nos parques de Londres. Ah Londres, ah Paris, ah a civilização! Deu um muxoxo, limpou uma gotinha da água do vaso que havia caído sobre o tampo da cômoda, ajeitou as cortinas e saiu, fechando a porta. Estava quase na hora de Titiza chegar, para ajudar na arrumação da sala de música, onde poriam todas as novidades trazidas da Europa. E para tomar chá e comer biscoitos e conversar, conversar, conversar! Se não fosse pela Titiza, Deus do céu, já estaria louca, absolument détraquée. A Titiza era a sua companheira de sofrimento, nesta cidade monótona, mesquinha, cheia de gente estúpida e sem refinamento, em que não havia nada a fazer, nada vezes nada vezes nada, vezes nada! Já tinha dito a Bonifácio Odulfo em diversas ocasiões: impossível, depois de conhecer a Europa, viver nesta rocinha em que não se tinha um teatro decente, via-se uma ópera de dois em dois anos, recebia-se grosseiramente em sociedade, não se desfrutava nem ao menos do prazer de trajar um vestido bonito, por não haver lugar aonde ir com ele. Para quê, para sofrer enquanto a professora Maria do Carmo Machado trucidava L’Elisir d’Amore, acompanhada pelo piano-forte não menos vil do bacharel Armindo Barros? Para querer morrer, querer verdadeiramente morrer, na hora aterradora em que o velho comendador Laudelino Proença mastigava seus epitalâmios sem fim, incompreensíveis tanto pela construção empolada quanto pelos golpes da dentadura frouxa infligidos às sílabas? Não, não, não, mil vezes não! Tinham de mudar-se para o Rio de Janeiro antes que ela fosse obrigada a internar-se numa clínica para moléstias nervosas e nunca mais sair, se fosse para voltar a viver na Bahia. Era ainda menina quando a tragédia aconteceu, de maneira que não lhe contaram nada, mas, agora que sabia da verdade sobre a morte de sua cunhada Carlota Borromeia, podia pôr a mão no fogo, jurar por todos os santos, que ela fora levada ao desespero pela vida a ela imposta, ainda mais casada com o hipopótamo do Vasco Miguel. Titiza que o dissesse, como aliás dizia mesmo, nas muitas confidências que trocavam. Claro que a Titiza tinha casado com o Vasco Miguel por dinheiro, não admitia isto claramente nem a Henriqueta, mas estava à vista. Que outra razão teria uma moça bonita, inteligente, muito mais jovem do que ele, para aceitar viver ao lado de semelhante paquiderme, de fala mole, movimentos de lesma e olhos de galinha morta? O pai dela, fazendeiro semiarruinado, cheio de terras mas afundado em dívidas, devia ter acertado a coisa toda e o Vasco Miguel viu-se dono da menina e das terras. Mas é claro que fez melhor negócio do que ela, pois, se não faltava nada em casa no plano material, no plano espiritual vivia-se lá deserto pior ainda do que com Bonifácio Odulfo, que pelo menos ainda tinha alguma vivacidade, apesar de enfadonho, com seu pieguismo e subserviência na intimidade. Não, não, não, Titiza e ela venceriam a campanha pela mudança para o Rio! Bonifácio Odulfo já não vinha tendo umas conversas sobre como havia necessidade de seu banco e diversas de suas firmas instalarem filiais ou mesmo transferirem as matrizes para o Rio de Janeiro, a Corte, onde tudo acontecia e não estariam limitados pelos estreitos e pobres horizontes da Província? Pronto, mais um pouco de persistência e elas fariam seus maridos dar o grande passo, levando-as e a seu precioso banco para o Rio de Janeiro. Pensando bem, havia essa alegria se delineando no futuro, a mudança era coisa certa, terminaria por acontecer. Menos mal, considerando as perspectivas sombrias que, ainda durante a viagem de volta da Europa, a perseguiam como íncubos horrendos. A vida
continuava tão sem graça quanto antes, mas agora sabia que iriam morar na Corte e seu lindo e tão másculo cunhado reaparecera das férias misteriosas que passara sabia-se lá onde. Ele não contara onde estivera, mas não tinha importância, era esquisitão mesmo, e isso só lhe aumentava o encanto e a atração — um verdadeiro homem, na expressão da palavra! Talvez um pouco tosco, um pouco duro demais, mas não só tinha boas maneiras, se bem que no mais das vezes secas, como sabia portar-se em sociedade. Que diferença para a chalreada pedante de Bonifácio Odulfo, que diferença estar em seus braços musculosos e não enlaçada pelos tentáculos cabeludinhos do marido, que só faltava pedir a ela que lhe batesse. Só faltava não, chegara a pedir e somente quando ela se escandalizou é que fingira que fora uma brincadeira. Se tinha sido brincadeira, por que havia uma chibatazinha no quarto, com a qual ele mesmo se aplicara algumas lambadinhas, antes de sugerir que ela o surrasse? Brincadeira nada, da mesma forma que não fora brincadeira a chave de uma das estantes do gabinete ter ficado na fechadura, como se esquecida. Esquecida como, se vivia presa à penca que ele carregava por toda parte? Que esquecida coisa nenhuma, tinha sido para que ela visse o que havia lá dentro, como por exemplo os livros da prateleira central, livros muito diferentes dos que circulavam habitualmente pela casa, brochuras impressas em cores insólitas, formatos esquisitos. Bem na frente, uma coleçãozinha de volumes pequenos, de capas em vermelho esmaecido: Colléction “Le Fouet”. Fouet não era chicote? Claro que era, e isso se corroborava pelas gravuras. Que gravuras! Aquela do salão cheio de poltronas de couro, com um homem de fraque, costeletas à la Império, bigodinho eriçado e sorriso obsceno, brandindo uma espécie de vara de marmelo com que vergastava o rechonchudo traseiro exposto de uma gamine, sob a supervisão severa de uma senhora de olhos de verruma! Tinha mostrado essas e outras gravuras à Titiza, um verdadeiro escândalo! Fora a primeira vez em que falaram entre si a palavra “bunda” — como havia bundas de fora nesses livros! Bundas de homem também, o mesmo devasso do bigodinho, de camisa, botas e mais nada, chicoteando uma moça só de espartilho. E que acontecimentos se narravam nas histórias! Pelo que podiam entender, porque o texto era num francês baixo, que não se falava nos salões e muito menos se ensinava às meninas, sempre havia um homem que castigava uma mulher, para depois consolá-la e levá-la à cama para os atos mais depravados imagináveis. Mas também existia um entre esses livros, um só, no qual lindas jovens chicoteavam homens de diversos tipos e idades, inclusive um senhor de bigodões que lembrava um pouco Bonifácio Odulfo, quando estivera mais gordo. Tinham morrido de rir, trancadas no gabinete, vendo aqueles bundões cabeludos sendo rebenqueados por mulheres em roupas de baixo de renda preta e seios à mostra. Henriqueta confidenciara a Titiza a tal estranha história da chibata de Bonifácio Odulfo e Titiza ficou assanhadíssima, disse que, se fosse ela, batia. Não tinha essa esperança com o Vasco Miguel porque — acredite, minha filha! — ele era quem queria bater, chegara a ensaiar-se algumas vezes, com uns tapinhas no rosto dela. Se ela não houvesse sido enérgica e ameaçado contar tudo ao pai, acabaria apanhando, mas ele ainda fazia insinuações quanto a isso de vez em quando, que ela, naturalmente, fingia que não entendia. Um dia, pensou Henriqueta, sou capaz de seguir o conselho da Titiza e dar uma surra de chibata no Bonifácio. Afinal, quem pedia era ele e talvez ela tivesse alguma satisfação nisso, quem sabe? Pelo menos a satisfação de descontar a raiva da vida desenxabida que ele a
obrigava a levar, numa cidade pequena demais para ela. Quem podia compreender aqui os grandes ideais do Eterno Feminino, a necessidade de delicadeza e romantismo, os dengues próprios da mulher de alta classe, a requintada sensibilidade de uma dama como ela? “Viste a minha chave?”, havia perguntado ele, e ela, sem alterar a expressão séria, respondeu, olhandoo dentro dos olhos, que tinha visto, sim, tinha fechado a estante e guardado a chave, ele precisava dela agora? Não lhe dera recibo, pensara até em dar, mas ficara com um certo nojinho dele na hora, ele que continuasse com os dentes pregados na parede até que ela mudasse de ideia, se mudasse. Mas mudaria, tudo mudaria. La femme est pour son mari ce que son mari l’a faite, portanto era obra dele até mesmo que ela quisesse tornar-se amante de Patrício Macário — e a palavra “amante”, mesmo apenas pensada, deixou-a numa excitação quase incontrolável. Uma carruagem parara lá embaixo, devia ser a Titiza chegando. Uma das negras subiu para anunciar que a senhora dona Beatriz havia acabado de entrar e Henriqueta correu para encontrá-la. Que alegria, já se demorava tanto, como estava bonita, onde havia comprado esse chamalote tão delicado, só podia ser estrangeiro, ficou tão bem neste modelo e que riqueza a escumilha da mantilha, não era estrangeira também? Beijaram-se muito e subiram para a sala de música. Havia tanto o que conversar! A principal novidade tinha que vir logo e Titiza não se continha, cochichando escada acima. A mudança para o Rio estava praticamente certa! O Vasco Miguel, pedindo muito segredo porque Bonifácio Odulfo queria fazer uma surpresa a Henriqueta, havia garantido que era agora uma questão de meses, semanas até! Que notícia, ai, que notícia! Titiza tinha certeza, tinha certeza, Titizinha? Claro que tinha certeza, se não tivesse não contaria nada, porque sabia que era a coisa por que mais ansiavam neste mundo. E, mais ainda, ia a família toda, só não ia o monsenhor, é claro, que este não deixaria nunca seus rapazes e suas obras pias. Como? A família toda, o Tic...? O Patrício Macário também? Perfeitamente, isto mesmo também contara à Titiza o Vasco Miguel, que soubera da notícia pelo próprio Patrício Macário, na hora em que este passara no banco para resolver alguns assuntos. Até que o Patrício Macário não queria ir, porque o que tudo indicava era que pretendiam designá-lo para um posto burocrático qualquer no Ministério, coisa que ele abominava. Mas seria bom que o Patrício Macário fosse mesmo, não seria? E poderiam continuar morando na mesma casa, como uma autêntica família unida! Henriqueta imaginou haver notado algo suspeito no olhar da amiga, quando ela falou no Tico. E uma certa hesitação na voz, um não sei quê que sugeria dissimulação. Então a Titiza estava também de olho no Tico? Doce esperança! Agora era que não lhe contaria mesmo nada sobre seus planos, não era boba. Talvez a melhor tática fosse até encorajar a amiga a abrir-se sobre o assunto, porque assim teria todas as informações de que precisaria para garantir sua vitória. Claro, claro, com calma saberia de tudo, qualquer pressa poderia atrapalhar os planos. Entraram para a sala de música, Henriqueta pôs as mãos na cabeça: alguém já vira tamanha bagunça? Tudo ainda meio encaixotado, tudo desarrumado, tudo por fazer. Mas será que valia a pena fazer alguma coisa, agora que a mudança estava certa? Ah, no Rio ia aproveitar para livrar-se daquela execrável mobília virginiana, coisa tão pobre e sem imaginação. Até daqueles castiçais de arandelas lúgubres como asas de mariposas ela ia livrar-se, não importava a afeição que Bonifácio Odulfo lhes tinha, por haverem sido da antiga casa do barão de Pirapuama. Não, minha filha, damasco, muito damasco e objetos ao estilo do
Segundo Império, não este, claro, mas o francês. E, mudando de assunto, Titiza sabia que não havia ninguém, absolutamente ninguém de algum relevo no Rio de Janeiro que não fizesse seus penteados com cabeleireiras francesas? Que achava ela, ficaria bem uma coiffure en papillote? Nesta estação... Nem parecia que o tempo havia passado, quando Titiza se despediu. Estava ficando tarde, as negras já deviam ter esquentado a água do banho e Henriqueta ordenou que enchessem a banheira. Entrou no banheiro, reformado depois de alguma resistência da parte de Bonifácio Odulfo, que desde o tempo de poeta não compreendia bem a insistência de certas pessoas em tomar banhos frequentes e prolongados. Agora o banheiro estava até bonito, com um grande espelho emoldurado em estilo Regência inglês, armários amplos, uma pia de porcelana Wedgwood com duas alças para se poder despejar a água, uma grande banheira de mármore encostada à parede. Henriqueta suspirou satisfeita, adorava mergulhar na água quente e ficar sonhando dentro dela. Tirou a roupa, olhou-se no espelho. Pensou novamente no Tico. Daí a pouco ele estaria voltando da rua, como seria bom se pudesse mostrar-se assim a ele, sem empecilhos! Fechou os olhos, alisou os quadris, encostou a palma da mão direita no púbis. Apertou as coxas uma contra a outra muito tempo, sentiu tanto prazer que teve de apoiar-se num porta-toalhas para não cair. Entrou na banheira, a água estava bem quente, como ela gostava. Abriu as pernas e sentiu que, misturando-se à água, seu próprio caldo escorria, lento, quase oleoso, tornando-a tão macia entre as coxas que não havia coisa mais deliciosa para tocar e agradar. Havia, sim, havia, sim, mas não estava ali. Esticou o braço um pouco para trás, pegou a escova de cabo de madeira lisa e ponta redonda, fechou os olhos outra vez, cerrou fortemente os dedos em torno da madeira, alisou com as costas da outra mão as cerdas semiásperas da escova e, tomando cuidado para não se machucar, enfiou em si o cabo com um gemido ronronado. Quase ao mesmo instante, enquanto o coração se acelerava e a respiração se tornava arquejante, sussurrou o nome de Tico e gozou tão longamente que pensou que ia morrer.
Ponta de Nossa Senhora, 30 de junho de 1871.
Levantando-se da esteira, Patrício Macário espiou pela janelinha aberta e viu que fazia um belo dia de sol. Mais uma vez, ao pôr os pés fora de casa, espreguiçar-se e caminhar até a beira da penha para ver o mar, encontraria Agostinho, que comentaria como o dia estava bonito e como, habitualmente, faz frio e chove muito nesta época do ano. Depois informaria se a maré enchia ou vazava e diria que fazia tantos dias que não avistava uma baleia — o que já foi isto aqui, nesta época do ano! Patrício Macário sorriu, olhou para Maria da Fé, que ainda dormia enrolada num lençol, e seu coração se aqueceu, como sempre acontecia quando a fitava em silêncio. Que orgulho sentia de estar ali com ela, de partilhar sua esteira, de ser amado por ela! Orgulho porque jamais houvera mulher tão bela em parte alguma e ele não podia descrever esse orgulho, que lhe vinha quando notava os olhos dela fixos nele com admiração ou desejo, quando ela o tocava, quando o abraçava, quando se deixava ver por ele
estonteantemente nua, sua, sua, inteiramente sua porque o amava, ele sabia. E orgulho porque também sabia que ela só poderia amar um homem que fosse igual ou parecido com ela, e isto queria dizer que ele tinha pelo menos alguma coisa de sua inteligência espontânea e ligeira, seu riso claro que tudo iluminava, sua determinação e coragem, sua nobreza e dignidade, a certeza, que infundia a todos, de que jamais seria desrespeitada ou humilhada. E era essa mulher altiva e bela, indominável pela mente ou pela força, que estava ali ao lado dele, que o amava, que deitava embaixo dele e o puxava para si como se quisesse misturar-se com ele. Sentiu uma emoção tão forte que os olhos se umedeceram. Pois ele também a amava, com tanta intensidade que às vezes se assustava, às vezes achava que tinha sido realmente encantado, como lhe dissera Rufina. Mas Rufina também lhe pedira confirmação disto, o que podia querer dizer que o encantamento dependia em parte do encantado. Sim, claro que estava encantado, claro que o mundo tinha novo brilho e que ele nunca mais seria o mesmo, nunca mais poderia ser o mesmo. Não sabia se acreditava na história complicada que Rufina lhe contara, até evitava confrontar este dilema. Mas a verdade era que não via mais nada como via antes. Nem as pessoas, brancas ou pretas, nem as coisas, nem os acontecimentos. Aprendera inicialmente, com muita vividez, que, ao contrário do que pensava, tudo pode ser visto de formas diversas, muito diversas, daquela que se pensa ser a única, a correta. E depois, história ou não história de Rufina, começou a sentir uma grande afinidade com aquela gente. Não uma afinidade que significasse a assunção de vida idêntica, mas que tornava absurda toda a sua existência anterior, passada como se aquele povo não tivesse significado, como se não fosse parte dele, como se toda a Nação se resumisse àqueles com quem convivia, na verdade uma minoria que se julgava de europeus transplantados, que não sabia de nada do que se passava. Como construir um país assim? Como, assim sem força e personalidade, poderia ele deixar de ser uma colônia, de uma maneira ou de outra? Não conseguia pensar muito claramente sobre essas coisas, porque se absorveu num tumulto de sensações e intuições novas, que chegavam a causar-lhe ansiedade por não poder deslindá-las com exatidão. Algumas dessas coisas eram apenas entrevistas, outras pressentidas, o que lhe aumentava a exasperação antecipada de quem acha que nunca vai conseguir explicar aos outros uma verdade patente, porque não tem como transmitir esta verdade. Além disso, nas longas conversas com Maria da Fé, depois que saíram da Capoeira do Tuntum ainda antes da madrugada e foram deixados praticamente sozinhos na Ponta de Nossa Senhora, o que ela contava lhe parecia fragmentário e desconexo, sem que ele jamais conseguisse juntar direito todas essas peças. Mas, quando lhe dissera dessa sua perplexidade, ela lhe respondera que também não sabia como juntar as peças, que sua vida era mais uma procura. Ela sentia como se houvesse uma espécie de canastra, uma arca, onde as respostas, pela obra de gente como ela, da qual existia mais do que se pensava, se acumulariam, até que alguém as pudesse entretecer num todo único. A única coisa que ela sabia era da força do povo, força de que ele precisava ter consciência, força não só dos números mas daquilo que produzia com suas mãos, cabeças e vozes, pois o povo era o verdadeiro dono do país, não aqueles que o subjugavam para a consecução dos próprios interesses. Tinha certeza de que um dia isso seria reconhecido, de que haveria liberdade e justiça. Agora, como se conseguiria chegar a esse dia ela não sabia, mas não era por não saber que ia ficar de braços cruzados,
porque certas coisas podiam ir sendo feitas. Pelo menos as cabeças, pelo menos as cabeças! — dissera com a voz inflamada. Pelo menos as cabeças deviam ser abertas, deviam ser libertadas, para que vissem a verdade delas e não a verdade de quem as dominava. Ela estava segura de que havia uma fraternidade, uma espécie de irmandade, cujas bases concretas não podia especificar, mas à qual pertencia, e essa irmandade, por maior que fosse a opressão e por mais que matassem as vozes do povo, sempre persistiria, havendo sempre um desses irmãos em toda parte a que se vá. Chamava essa irmandade de Irmandade do Povo Brasileiro e insistia em que não era uma invenção poética, mas uma realidade, só que uma realidade oculta por aquelas a que todos estão acostumados. Como se reconhecia quem pertencia a essa Irmandade? Quem pertence à Irmandade — retrucou ela — reconhece o outro. Reconhece pelos atos, pelas palavras, pelo andar, pelos gestos, pela voz, pelo porte e por muitas coisas que quem é da Irmandade sabe. Quem primeiro sabe que pertence à Irmandade é a própria pessoa — acrescentou —, embora desconhecesse como isso acontecia. Imaginava que os da Irmandade a encontraram porque se dedicaram, que quem quer que se dedicasse a encontrava, era uma coisa ao mesmo tempo vinda de fora e vinda de dentro. Ele acreditava em Deus? Ela acreditava, acreditava talvez de uma forma especial, mas acreditava. E por isso acreditava também na grande responsabilidade do livre-arbítrio. Se não houvesse livre-arbítrio, o homem não seria nada, não poderia aspirar a nenhuma dignidade, pois que não teria responsabilidade. Mas, como há o livre-arbítrio, há a grande responsabilidade de que, se queremos que o mundo melhore, devemos fazer por onde ele melhore, já que o mundo é nosso, é do homem e a ele foi dado. Não se pode querer que Deus resolva os problemas do homem, porque, se o fizesse, retiraria do homem a responsabilidade e, por consequência, o livre-arbítrio. O que ficava claro para ela, então, é que todo trabalho dedicado, que tenha em vista sua própria excelência mas que subordine essa excelência ao bem, contribui para melhorar o mundo, mas as coisas não eram tão simples, inclusive por causa da opressão e da injustiça. No caso dela, o trabalho era lutar contra essa opressão e essa injustiça, procurar compreendê-la e compreender quais os remédios contra elas e como administrá-los. No caso dela, mais ainda, seu sentido de responsabilidade a levava a entregar a essa luta não a vida, mas a alma. Tampouco sabia como isso acontecia, mas sabia, era esse o compromisso dela. Compromisso este que, já pelo meio da manhã, quando estavam voltando de uma pescaria de siris que tinham feito com os jererés de Agostinho, ela lembrou. Lembrou porque ele, depois de haverem rido muito com a perseguição que tiveram de fazer aos siris que haviam fugido do cofo que ele carregava, a abraçou e disse que nunca mais se separariam. — Mas claro que nos separaremos — disse ela. — Tuas férias estão terminando. E por que não dizer as minhas também? — Eu pensei que isto já tinha sido resolvido — falou ele, com alguma impaciência. — Ontem mesmo, tu disseste que nunca nos separaríamos. — Tu sabes muito bem o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que meu amor por ti nunca morrerá e te acompanhará sempre. E o teu, eu sei, sempre me acompanhará. — Isto é que me parece uma insensatez, uma estupidez. Se eu te amo e tu me amas, se nunca nos aconteceu semelhante paixão, semelhante identidade, semelhante fervor, semelhante êxtase, por quê, a troco de quê, nos separaremos?
— Já falamos tanto sobre isto... — Falamos, falamos, sim, mas ainda não aceito. — Não é uma questão de aceitar, é uma questão de ser assim. Não é uma coisa que eu quero, mas uma coisa que tem que ser. — Talvez tenha que ser, à luz dessas coisas loucas que sabemos ou que julgamos saber. Mas à luz da vida cotidiana, do prático, do tangível, não é uma coisa que tem que ser, é uma escolha. — Uma escolha muitas vezes é uma coisa que tem que ser. E, depois, crês mesmo que essas coisas loucas são tão loucas assim? Não posso ser tua mulher. Mesmo que não houvesse dificuldades, por eu ser preta ou ser mulata ou como lá dizem os que se preocupam com essas palavras, eu não poderia ser tua mulher. Não poderia servir-te, não poderia acompanhar-te, não poderia dar-te filhos, não poderia, enfim, ser tua mulher e eu só seria tua mulher se pudesse ser tua mulher. — Mas eu posso ser teu homem. E posso ficar a teu lado. Os olhos de Maria da Fé se encheram d’água, uma lágrima lhe escorreu até a boca. Sem enxugá-la, ela deixou cair os jererés e o abraçou muito tempo, pondo-lhe a mão sobre os lábios quando ele quis falar. — Tu sabes — disse ela, muito baixinho, olhando para o lado —, eu mesma às vezes penso que não existo, penso que sou uma lenda, como dizem que sou. E tu, no futuro, talvez venhas a pensar assim também, a pensar que sou uma lenda. Não sei se isto é mau para ti, porque te amo tanto e não quero que sofras, não quero que sofras nada, nunca, nada e, talvez, depois de te convenceres de que sou uma lenda, não sofras tanto. — Isto não faz sentido, isto não tem pé nem cabeça, é claro que não és uma lenda, estás aqui junto de mim, és minha mulher, és minha vida, és... — Não sou tua vida, sou teu amor. Vê bem que, para que pudéssemos viver juntos, um de nós teria de deixar de ser quem é. E não é certo nem que eu deixe de ser o que sou e fazer o que faço, nem que tu deixes de ser quem és e fazer o que fazes. — Mas eu não faço nada. E, depois, pode-se sempre mudar. — Claro que tu fazes alguma coisa e farás alguma coisa. E quanto a mudar, é impossível. — Como impossível? Continuo a dizer que isto não faz sentido. — Porque eu amo quem tu és, não aquele em que te transformarias. E tu amas quem eu sou, não aquela em que eu me transformaria. E é claro que tudo faz sentido, tudo sempre faz sentido, tu dizes que não faz porque quase sempre só encontramos sentido onde nos interessa encontrá-lo. Procuraste algum sentido, alguma razão de ser para o que nos aconteceu? Por que caímos nos braços um do outro como caímos, sem falar uma palavra, por que sentimos que nos conhecemos mais do que qualquer pessoa conhece qualquer coisa? Por que assim, desta forma, como se tudo estivesse urdido antes? Achas que foi à toa, que não tinha que ser? — Não, não, claro que tinha que ser. — Então? Então há coisas que têm que ser, tu mesmo o disseste. Não havia vivalma, não havia nada, nem mesmo um passarinho, quando eles se deitaram na grama fofa debaixo de uma mangueira antiga e fizeram tudo o que todos os
amantes apaixonados já fizeram e o tempo deixou de existir. Só voltou a existir cinco dias depois, quando Patrício Macário, havendo bebido sem saber uma infusão da mesma erva que ela lhe dera da outra vez, acordou sozinho numa casinha em Bom Despacho onde tampouco havia vivalma, nem se sabia, na rala vizinhança, a quem pertencia. Acordou impregnado do cheiro dela e com uma carta na mão, que nunca mostrou a ninguém.
Arraial de Santo Inácio, 29 de fevereiro de 1896.
A noite baixou de supetão e uma friagem seca cobriu as cercanias do Gentio do Ouro e de Xique-Xique, a umas boas léguas das barrancas do São Francisco, onde o arraial se esconde pelo meio dos montes. Esconde-se porque é um arraial fora da lei, cafua de bandidos, jagunços fugidos e cangaceiros, onde ninguém dorme nu e sem arma na mão e só se entra com permissão. Agora que a caatinga recolheu suas plantas ferozes debaixo do manto de sereno e até a poeira das três ruas assentou, nada se vê senão a iluminação amarelada de alguns lampiões, atravessando os quadradinhos formados pelas varas das paredes dos casebres de sopapo. Rua do Meio acima, uma fogueira arde no alpendre do casarão arruinado, de paredes de alvenaria e telhado ainda prestante, que todos chamam de Tapera do Andrade, embora ninguém saiba por quê. A história do arraial de Santo Inácio é desconhecida, assim como é desconhecida a maior parte da história destas paragens e do povo que nelas habita. Filomeno Cabrito, ajustando os dois punhais para que ficassem com os cabos inclinados para a frente como ele gostava, olhou em torno do coió onde estivera comendo paçoca acocorado, para ver se deixara tudo em ordem. Pegou a colubrina e o embornal e saiu a caminho da Tapera. Não queria perder a presença do cego Faustino, que chegara de Vila Nova da Rainha precedido de grande fama de narrador. Andou depressa, talvez já estivesse atrasado, pois o cego havia anunciado que a história verdadeira que ia contar era comprida e portanto tinha de começar logo ao anoitecer, só não começando de dia devido a que não queria criar rabo. E, efetivamente, quando subiu os degraus carcomidos do alpendre do casarão, já o velho, esquentando as mãos no calor da fogueirinha e enrolado numa manta preta, falava para um grupo de mais de vinte cabras, alguns sem chapéu, quase contritos como numa igreja. Filomeno Cabrito pediu licença, tirou também o chapéu e se acocorou junto a uma pilastra meio caída. A história do cego Faustino era de fato comprida, porque começava quando o mundo foi feito, antes do descobrimento do Brasil. Contou que já existia mundo antes de existir o Brasil, existiam portugueses, franceses, galegos, alemães e muitos outros. Explicou como o mundo foi feito por Deus, que, mais tarde, muito aborrecido com a pecaminosidade dos homens, que até Sodoma e Gomorra fizeram, mandou descer o Dilúvio Universal, que afogou todas as criaturas, menos São Noé, sua família e um casal de cada bicho, no tempo em que os bichos falavam. E por aí veio mais mundo com toda sua grande História, os reis de Espanha, o general Napoleão de França, os príncipes e princesas brasileiros, os imperadores, a princesa Isabel e os homens que mandaram o Imperador embora para trazer a lei do Cão.
Mas, explicou o cego, a História não é só essa que está nos livros, até porque muitos dos que escrevem livros mentem mais do que os que contam histórias de Trancoso. Houve, no tempo do antigo Egito, terra do rei São Salomão, cerca da terra da rainha de Sabá, por cima do reino judeu, uma grande blioteca, que nela tudo continha sobre o conhecimento, chamada de Alsandria. Pois muito bem, um belo dia essa grande blioteca pega fogo, subindo na fumaça todo aquele conhecimento e até mesmo os nomes dos que tinham o mais desse conhecimento e escrito os livros que lá havia. Desde esse dia que se sabe que toda a História é falsa ou meio falsa e cada geração que chega resolve o que aconteceu antes dela e assim a História dos livros é tão inventada quanto a dos jornais, onde se lê cada peta de arrepiar os cabelos. Poucos livros devem ser confiados, assim como poucas pessoas, é a mesma coisa. Além disso, continuou o cego, a História feita por papéis deixa passar tudo aquilo que não se botou no papel e só se bota no papel o que interessa. Alguém que tenha o conhecimento da escrita pega de pena e tinteiro para botar no papel o que não lhe interessa? Alguém que roubou escreve que roubou, quem matou escreve que matou, quem deu falso testemunho confessa que foi mentiroso? Não confessa. Alguém escreve bem do inimigo? Não escreve. Então toda a História dos papéis é pelo interesse de alguém. E tem mais, falou o cego, o que para um é preto como carvão, para outro é alvo como um jasmim. O que para um é alimento ou metal de valor, para outro é veneno ou flandre. O que para um é um grande acontecimento, para outro é vergonha a negar. O que para um é importante, para outro não existe. Por conseguinte, a maior parte da História se oculta na consciência dos homens e por isso a maior parte da História nunca ninguém vai saber, isto para não falar em coisas como Alsandria, que matam a memória. Porém esta história que eu vou contar, disse o cego, é verdadeira, tão certo como Deus está no céu. E então contou que era uma vez um grande barão do Império, que vivia na Bahia, onde era senhor de todos os peixes que lá se pescavam, não se pescando nenhum peixe sem a sua permissão. Esse barão possuía muita riqueza e muitos vastos domínios, grande número de escravos e tudo o que queria na vida. Isto se deu por muitos fatos, inclusive porque esse barão foi herói na guerra da Independência, por isso mesmo sendo nomeado barão, pois depois da guerra todos os heróis foram muito recompensados, recebendo terras e presentes do rei imperador Dão Pedro. Mas esse barão era muito perverso. O heroísmo dele na guerra foi que ele, sem ninguém ver, matou um cativo por nome Inocente e com o sangue desse cativo se lambuzou e fez muitos curativos para dizer que tinha sido ferido na batalha. Vejam vosmecês que desgraça, mas foi isso mesmo que ele fez. Muito bem, se lambuzou com o sangue desse cativo, se apresentou como ferido, se escondeu uns tempos e depois apareceu de novo e ficou conhecido como grande herói de guerra e recebeu ainda mais dinheiro do que tinha antes e foi nomeado barão. Mas contudo ocorreu um pormenor, que foi que, nessa ocasião do sangramento do cativo Inocente, estava presente um outro cativo, por nome Feliciano, que tudo presenciou. Presenciou aquilo tudo, mas, coitado, cativo de senhor malvado, não pôde fazer nada e ficou quieto. Mas aí o barão mandou que fossem chamar esse cativo e, quando ele veio, ordenou que cortassem a língua dele para ele nunca poder contar a ninguém o que houvera acontecido. Toraram a língua do negro bem embaixo e ele nunca mais teve o juízo certo, certo mesmo.
Pois bem, nisso o barão vai ficando cada vez mais rico, toda a cana da Bahia e todo o peixe e mais não sei quantas coisas pertencendo a ele, mas não cessa a sua grande perversidade. Assim não é que, numa noite de véspera de Santo Antônio, ele manda buscar uma cativa, cativa essa princesa africana de grande beleza, e deflora essa cativa depois de lhe bater como nunca ninguém tinha apanhado nas suas grandes senzalas. Não é assim que ele não teve conhecimento de que essa cativa, que se chamava Adaê, ficou nessa mesma noite grávida de um filho dele. Não teve conhecimento na ocasião nem depois, visto que mandou chamar um negro liberto da confiança dele e ordenou que esse negro levasse com ele a cativa, para criar ou matar lá bem longe, em outras paragens. O barão teve a maldade castigada. Logo depois dessa passagem onde ele abusou da cativa, apareceu uma grande Irmandade numa casa de farinha que havia no sítio dele mesmo, chefiada por um negro feiticeiro chamado Dandão e por um negro de duas braças de altura chamado Bodeão. Esses dois negros da poderosa Irmandade da Casa da Farinha tinham uma canastra contendo muitos segredos do destino do povo, muitas defesas e muitas receitas de orações e feitiços. E, por meio dessas orações e feitiços, bem como pela ajuda de outros como eles, conseguiram dar uma certa bebida ao barão, o qual foi estuporando aos poucos, até morrer uma das piores mortes que já se viu na Bahia, contando as pestes. Enquanto isso se passa, a cativa se torna grande pescadora, com a proteção do negro liberto que tinha recebido ela da parte do barão. Esse negro, por intermédio de muitas artes, conseguindo enganar os brancos e se safar por aqui e por ali, juntou dinheiro e ficou até que mais ou menos bem de vida, tinha sua casa, tinha seu borzeguim, tinha sua roupa de festa, tinha comida na mesa, era um negro bem de vida. Então nasceu a filha da pescadora Adaê, que era também filha do barão perverso, e o negro velho tomou xodó com ela, criou como neta, botou na escola interna, deu tudo que podia dar. A neta ficou uma moça bonita, amulatada de olhos verdes, de estatura muito alta e dizem que mais vistosa do que um jardim de flores e mais inteligente que as abelhas. Mas se deu que, um dia, quando ela vinha voltando de uma pescaria, oito brancos atacaram ela e a mãe dela para querer abusar. A mãe se defendeu com um pau de pescador que tinha herdado da África, por nome oriçanga, e os brancos então mataram ela de punhaladas e foram embora. Nunca mais que a menina foi a mesma, pensando naquele crime, crime esse que não era crime por a lei não punir morte de negro, não se conformando ela com a falta de justiça e liberdade. Mesmo depois que, por obra daquela dita Irmandade, os oito brancos foram engolidos por uma grande onda do mar e nunca mais se viu nem cisco de nenhum deles, mesmo depois dessa vingança, ela não se conformava. Não se sabe como foi que ela soube da Irmandade, nem da canastra, nem de Dandão e Bodeão, mas o fato é que ela soube e, quando soube, se juntou a eles. O negro velho teve grande desgosto — minha filha, por que tu vai fazer uma desgraça dessas, abandonar teu velho avô, deixar todo o conforto para se meter nessa sedição —, mas ela firme — porque ela vai, porque ninguém tira isso da cabeça dela, porque ela tem que seguir o destino dela —, até que o velho deu apoio a ela e deu até o dinheiro que tinha juntado aqueles anos todos. Que aconteceu com essa moça? Se perdeu no mundo combatendo a injustiça, na companhia de uma milícia, a qual era chamada de Milícia do Povo. Libertou o negro Bodeão, que tinha sido preso numa grande fortaleza defendida por mais de mil soldados com lazarinas,
baionetas e canhões. Tendo ele por parceiro no comando, enfrentou a tropa do Exército em muitas batalhas, sendo a primeira numa grande ilha chamada Itaparica, não essa Itaparica daqui, mas outra, muito distante, uma grande ilha cercada de água salgada, batalha essa onde ela derrotou os militares e depois mandou que botassem os dois comandantes para dançar nus no meio do povo da ilha. Nunca se sabia onde ela estava nem o que ela ia fazer, mas se sabe que percorreu todas aquelas partes e fez muitas revoluções de que nunca ninguém fala. Não foi um nem dois barões donos de terras que tiveram o mesmo destino dado ao primeiro, nem foi um nem dois negros cativos libertados. Foram muitos, muitíssimos, em todas aquelas partes. Mas logo ela percebeu que a luta era por demais desigual e ia continuar a ser, enquanto não conseguisse mostrar a todo mundo, a todo o povo que padece da tirania do poderoso, que é preciso que todos lutem, cada qual de seu jeito, para trazer a liberdade e a justiça. E então, além de lutar, passou a ensinar, tendo feito muitas escolas do povo no meio dos matos de diversas regiões, onde punha seus professores e de vez em quando aparecia para ministrar aulas, começando sempre cada lição com a seguinte frase: “Agora eu vou ensinar vocês a ter orgulho.” Ao preto ela ensinou a ter orgulho de ser preto, com todas as coisas da pretidão, do cabelo à fala. Ao índio ela ensinou a mesma coisa. Ao povo, a mesma coisa, bem como que o povo é que é o dono do Brasil. Com isso ela passou a ser cada vez mais odiada e sempre descobriam onde havia uma escola dela, enforcavam professores, punham no tronco os alunos, amaldiçoavam os lugares e faziam tudo para destruir o que ela construía. Ela vivia se escondendo do Exército, que é a pior e a mais poderosa polícia de todas. Mas o povo gostava dela e a toda parte que ela fosse tinha lugar para se esconder e ninguém informava aos forasteiros onde ela estava escondida, tendo muitos que ela fosse uma santa em toda sua pura beleza. Santa não se sabe, mas se sabe que teve somente um grande amor, por um alto oficial do Exército que nunca quis combater contra o povo e que com ela se encontrou e, sentindo que suas almas eram gêmeas e seus corações tinham harmonia, lhe propôs que fosse mulher senhora casada dele. Ela, que tanto se apaixonou por ele, chorou rios e rios de lágrimas de tristeza. Não era por ser muito mais velha do que ele, não era por ser raceada com preto, não era por nada que ela não podia aceitar, era por causa de sua elevada missão. Ela disse ao oficial: — Ela não vai contigo, ela tem o coração partido em mil lasquinhas, um espinho espetando o meio do peito com o mais imenso penar, uma pata de cavalo pisoteando a cabeça, choro em cada olho que dá para transbordar um bogó de lágrimas. Ela não vai e para sempre vai chorar, por ter dado a alma ao povo e não poder dar ela a seu homem. Dizem que desse dia em diante, poucas vezes mais se ouviu o riso dela, que era conhecido por sua alegria. Mas nem por isso esmoreceu no ideal, embora tivesse gente que achasse que tinha até enlouquecido. Veio a libertação dos escravos, ela pregou que aquilo não libertava escravo nenhum e que o povo nada podia esperar que fosse dado de cima e, se deram essa tal liberdade aos cativos, era porque interessava a eles e boa coisa não era para o povo. Veio a República e ela pregou que tanto fazia como tanto fez, que nem rei nem presidente estava pensando no povo e podiam esperar até vida pior. Como de fato foi o que se viu depois, a seca piorando, as terras sendo tomadas dos pobres, a escravidão pior do que antes, o coronel mandando mais que o imperador de Roma, o povo de cabeça baixa, os
despossuídos cada vez mais despossuídos e os possuídos cada vez mais possuídos, por isso se dizendo que a República trouxe a lei do Cão. Então Maria da Fé — este é o nome dessa grande guerreira — partiu para o sertão com seus milicianos, porque ouviu dizer que no sertão havia muita gente revoltada disposta a combater contra a tirania. E aqui no sertão se sabe que ela apareceu por aqui por acolá, às vezes guerreando para justiçar quando pôde, às vezes espalhando a Irmandade da Casa da Farinha e o orgulho. Procurou muitas vezes unir os revoltados das caatingas para juntos combaterem, mas isso ficou cada vez mais difícil, ela sendo perseguida pelas polícias, pelos coronéis, pelos fazendeiros e por todos mais que sentiam prejuízo com o trabalho dela. Mas não desistiu de lutar e, aqui mesmo, neste lugar onde estamos, que era de Crescêncio Andrade, capitão de mato, piloto de jagunços e fazendeiro, as marcas das balas dela ainda estão nas paredes, quando ajudou a revolta dos posseiros contra ele e venceu, embora tenha vindo uma grande força depois que ela partiu, que matou todos os posseiros depois de fazer que eles cavassem suas covas, degolando os mais valentes para mostrar as cabeças ao povo. Por isso que aqui se chama de Tapera do Andrade e nunca mais ninguém plantou ou fez criação aqui, tendo virado este lugar mal-assombrado, onde as almas dos bons ficam combatendo as almas dos maus dia e noite. Não se sabe por onde anda Maria da Fé, nem o que está fazendo agora. Mas se sabe que, como vem escrito no seu nome, ela continua acreditando que um dia vai vencer, nem que não seja ela em pessoa, mas quem herde as ideias e a valentia dela, que ela acha que serão muitos. Como nasceu por perto da Independência, já deve de estar velha, porque ninguém conseguiu nunca cortar a cabeça dela. E talvez nem velha nem esteja, porque sabe o povo que ela só faz aniversário de quatro em quatro anos, tendo nascido num dia 29 de fevereiro. — Pode ser até que ela esteja por aí — disse o velho, esticando o beiço e girando a cabeça devagar, como se estivesse querendo ver com seus olhos opacos. — Porque hoje é 29 de fevereiro e foi por isso que eu escolhi esta história para contar a vosmecês. Filomeno Cabrito se arrepiou, viu que os outros homens se sentiam mais ou menos como ele e logo começaram a mexer-se e a conversar, como para arejar um ambiente pesado. Alguns disseram que só não gostaram mais da história porque não tinha fim, mas o cego retrucou que nenhuma história tem fim, eles eram que pensavam que as histórias tinham fim. Outros perguntaram se o cego pertencia à tal grande Irmandade e ele respondeu que não, mas que, se pertencesse, também não ia dizer que pertencia, de forma que a indagação era inútil. Filomeno se interessou pelas perguntas e respostas e pela discussão que se seguiu, imaginou que, se ficasse ali, aprenderia muitas e muitas coisas, inclusive sobre essa Maria da Fé, de quem antes só tinha ouvido falar muito vagamente. Mas se levantou, foi até o cego, pôs-lhe uma moeda na mão, pegou o embornal, recolocou o chapéu na cabeça, deu boa-noite aos presentes e se enfiou de volta para o coió, sem olhar para os lados porque não queria ver nenhuma alma, não queria ver nem Maria da Fé tomar corpo na caatinga de repente, queria somente ir dormir sem sonhos. Não podia ficar, estava muito tarde, precisava acordar cedo, havia muito que andar e ele não conhecia o caminho direito, tendo começado viagem havia bastante tempo, saindo do sertão do Piauí por trilhas enoveladas até bater-se ali. Mas esperava que, com perseverança e boa marcha andadeira, com fé em Cristo e na Virgem
Santíssima, em mais alguns dias chegaria aonde estava indo para peregrinar e talvez morar, o renomado Arraial de Canudos, governado pelo Conselheiro.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1871.
— Nunca! Nunca! Nunca! — Henriqueta sapateou diante do espelho do quarto e começou a ter uma crise de choro. — Dadeca, eu vou usar o décolleté, não há quem me faça ser retratada com esse medonho jabot de velha, ah não, ah não, ah não! — Madame, madamezinha, não chore, madamezinha, vai estragar o pó de arroz, deu tanto trabalho para chegar no ponto certo... — disse a negra Dadeca. — Não está feio, não, está bonito, está como uma grande senhora! — Está como uma grande senhora? Está como uma megera velha, isto sim, faz até parecer que tenho papada! E quantas vezes já te disse para não me chamares de madamezinha, madame é uma palavra francesa, madamezinha é um barbarismo, coisa de negro, será que não aprendes nada? Ah, meu Deus, por que fui perguntar a opinião de meu marido? Para que ele me impusesse usar esta peça de museu! Como vou poder mostrar o retrato a minhas amigas, a qualquer pessoa? Ah, não vou passar este ridículo, não há quem me faça, não senhora! Anda lá, Dadeca, mexe-te, vai lá ao guarda-vestidos — o da direita, o da direita! — e traz-me o décolleté, o de moiré, esse mesmo, ajuda-me cá a tirar fora estes trapos horripilantes! Que vida, que vida, nunca havia sossego! Diziam que no Norte fazia calor, mas calor como o do Rio de Janeiro, meu Deus do céu! Logo que chegaram, achou magnífico o solar que Bonifácio Odulfo comprou no Caminho Novo de Botafogo, em terreno muito amplo, com cavalariças, jardim, parque e um lago com barquinhos e estátuas de nereidas e tritões. Mas agora não achava mais, tinha até uma pontinha de inveja da casa da Titiza no Cosme Velho, que lhe parecia possuir um toque superior, aristocrático. Ficou com mais raiva ainda do calor, de tudo no mundo e de Dadeca, que demorava demais em desabotoar os colchetes do corpete. — Será que tudo para ti precisa ser extraordinariamente difícil? Depois há quem diga que a raça negra tem inteligência. Se os monos têm inteligência, então terão os negros inteligência também, inteligência de monos! Que sofrimento, meu Deus do céu! Imagine-se se uma negra dessas tivesse as responsabilidades de uma dama. Por isso que as tribos negras nunca passaram de bandos de canibais e eles são desprezados em todo o mundo. É claro que não queria ser negra, não podia nem pensar, mas às vezes invejava a vida da gente simples. Todos pensam que quem tem dinheiro não tem problemas, mas como se enganam, como se enganam redondamente! Quem não tem problemas é a gente simples, que não sabe de nada, não precisa de nada, não tem inquietação espiritual, não tem ambições, não tem responsabilidade, furta os patrões, trabalha o menos que pode, vive aquela vidinha mansa, na flauta mesmo, como se diz. Ah, se eles soubessem da vida de uma grande dama! Mas não adiantava nem pensar em que eles compreendessem, não compreendiam nada, limitavam-se à inveja, que povinho ordinário, esse povinho brasileiro! Agora mesmo, quanta trabalheira, quanto padecimento, quanta angústia, só
para conseguir que Jean-Louis Gaillard lhe pintasse o retrato. Primeiro, teve que inventar um plano para convencer Bonifácio Odulfo, que achou altíssimo o preço cobrado pelo francês — que mentalidade, meu Deus do céu, como se arte tivesse preço, como se Jean-Louis Gaillard não fosse um nome universal, um retratista dos que só surgem de século em século! Que tributo ela pagou, meu Deus do céu! Pagou e continuava pagando, porque, ao insinuar trocar as chibatadas pelo consentimento para o retrato, não imaginava como ficaria escravizada àquilo pelo resto da vida, aparentemente. Se, no começo, ele tinha acanhamento de pedir mais, agora pedia sempre, com a maior desfaçatez, era um inferno, um verdadeiro inferno, aquilo cansa! Que calor! E depois veio a dúvida sobre se o pintor aceitaria fazer o retrato dela. Sim, ainda mais essa, havia ainda essa! Todas queriam um retrato pintado por ele, absolutamente todas, meu Deus do céu! Que esforço, que minueto de influências, que tolerância para com a boca mole da condessa da Penha só porque era amiga de Jean-Louis Gaillard e o hospedava. Mas ainda estava para nascer obstáculo que Teresa Henriqueta não vencesse e o pintor finalmente marcara a primeira sessão, para a qual ela tão penosamente se preparava, assistida pelo desjeito de uma negra bronca. Como tudo neste país é difícil, meu Deus do céu! Que calor! Que calor! Já vestida, olhou-se no espelho, achou-se bonita, sentiu-se um pouco melhor. Talvez os ombros estivessem um tanto lustrosos, talvez o busto também, quem sabe um pouquinho de pó não resolveria esse problema? Era o maldito calor, que deixava as pessoas luzidias como se tivessem sido enceradas. Sorriu para o espelho com faceirice, meneou o corpo para lá e para cá, olhou-se de lado, tornou a achar-se bonita, muito bonita mesmo, linda, por que não dizer? Gostava daquele vestido, dava-lhe um ar tão, tão... tão taful, tão garrido, tão jovial! E, ao mesmo tempo, realçava uma mulher, não uma menina, uma verdadeira mulher, cujos encantos e cuja profundidade não podiam ser negados. Empinou um pouco o busto. Que tal uma pinta bem aqui, uma pintazinha, para um toque apenas um tantinho malicioso? — Que achas de pôr uma pinta aqui? — perguntou a Dadeca, com o dedo mínimo apontando para o seio esquerdo. Dadeca estava de boca aberta, olhos fixos no decote, não ouviu a pergunta. — Que tens aí como um estafermo? Não ouviste o que te perguntei? Não achas que uma pintinha aqui... Percebeu que Dadeca se escandalizava com o vestido, levantou as mãos para o alto. Que mentalidade, meu Deus do céu! Estaria para sempre condenada a viver em tamanho atraso, uma exilada na própria terra em que tivera a desdita de nascer? Que havia de mais com o vestido, meu Deus do céu? Que havia de mais naquilo, era até modesto em relação ao que vira na Europa e ao que via nas revistas e álbuns, que havia de mais? — Uma pintinha, madame? Henriqueta riu. Pobre criatura estúpida, que podia perceber, coitada, do que ia na mente de uma pessoa superior? Havia que ter paciência com ela, também não era má assim, era pelo menos uma negra de confiança. Juntou as mãos no regaço, olhou para ela com a cabeça inclinada, rindo muito. Dadeca terminou rindo também. — Cruzes, madame, esse vestido... — Que tem este vestido, Dadeca? — O decotelê, o decotelê não está baixo demais? O senhor doutor Bonifácio Odulfo,
ele...
— O como? O decotelê? Ah, Dadeca, se não nascesses, teriam que inventar-te! Com que então o meu decotelê está baixo demais? Está nada, está baixo para aqui, talvez, para uma cidade e um ambiente atrasado como o daqui. — Mas madame vive aqui. — Não deixas de ter razão, Dadeca, de vez em quando te chega, Deus sabe como, um pensamento inteligente. Mas não há de ser por morar aqui que uma mulher como eu... — Uma mulher? Virgem Santa, madame! Uma mulher? — Uma mulher, uma mulher, sim, que há de errado com essa palavra? Uma mulher, uma mulher, une femme, a woman, uma mulher! As mulheres um dia se libertarão desse destino que torna feia para elas a menção de sua própria condição. O homem pode dizer que é homem, a mulher não pode dizer que é mulher? Não, não, o espírito feminino mostrará um dia o que vale, disto tenho certeza. Sou uma mulher, sim, Dadeca e, como te dizia, não será por morar aqui — là-bas, como se diz — que uma mulher como eu desistirá, claro que sem exageros mas com a ousadia que a mulher sabe usar na justa medida, de vencer essas restrições ridículas e antiquadas. A mulher moderna não é nada disso que tu pensas, não é uma flor emparedada. A mulher moderna tem seu próprio pensamento e, se depender de mim, decidirá ela mesma sobre o tamanho de seu décolletage e assumirá sua natural coquetterie. A mulher é um ser de malícia, um ser de abordagens indiretas, um ser que não se submete servilmente aos ditames secos da razão. Suspirou. Que estava fazendo, mantendo uma palestra erudita e bem-pensante com a Dadeca? Teve um pouco de pena de si mesma. Havia séculos, mulheres como ela brilhavam nas cortes e salões da Europa e ela, meu Deus do céu, aqui desperdiçando seus bons mots e sua cultura com um pedaço de carvão analfabeto. Que calor! — Mas tens razão, Dadeca, sacrifico por esta vez a pinta. E, se o decote te parece muito ousado, faço também uma concessão aos matutos deste vilarejo, uso o boá! Hem, que tal? Traz-me o boá, Dadeca, o branco, tu não achas? Ah, sinto-me em Paris! Crês que o corde-rosa fica melhor? Não, não, espalhafatoso em demasia, ponho o branco. Ah, não sei. Tens alguma ideia, Dadeca? — Está muito bonito, madame, está bonito mesmo. — Por que pergunto as coisas a ti? Só o que sabes dizer é que está bonito, ou então arregalar os olhos como uma macaca assustada, por causa de meu decote. — Sim, madame. — Digo-te o que farei, Dadeca. Uso a pèlerine azul, a clarinha. Ah, mas evidente, por que não pensei nisto antes? A pèlerine é perfeita, esconde mas não esconde, deixa-se um botão aberto aqui assim... Não, estes dois. Ahn? Então? Perfeito, perfeito! Dadeca, estou linda! Não estou linda? — Muito linda, madame, muito linda mesmo, muito linda! — Obrigada, Dadeca, é verdade. Agora só preciso mudar estes pentes, estão horríveis, parecem os dentes de algum animal feroz a abocanhar-me a cabeça. Grandes demais, traz-me os pequenos, os espanhóis. Não são tão bons quanto parecem, escorregam um pouco, mas ficam bem com este vestido, acho que por causa das pedrinhas incrustadas. Anda,
corre! Estou atrasada? Que horas são? — Bateram as duas, madame. — As duas? Tens certeza? Anda, vai lá ver. — Mas, madame, ainda tem tempo. O senhor pintor não disse que só vinha às três, não foi para as três que ele marcou? Madame não me pediu para lembrar que era hoje às três? — Dadeca, que hábito mais enervante, este teu, de querer conversar sobre o que te ordeno! Não te disse que fosses ver as horas? Pois então vai ver as horas, não discute! E passa-me as mitaines antes de sair. Sim, essas luvas, sim, não aprendes nunca, meu Deus do céu? Realmente, o pintor marcara a primeira sessão para as três. Mas Dadeca não sabia, nem podia saber, que o dia prometia mais emoções do que uma simples sessão de pintura, não importava quem fosse o artista. Era o dia, era finalmente o dia em que cairia nos braços de Tico, o dia em que — e sentiu uma cócega abaixo do umbigo — ele — sim, esta era a palavra, a divina palavra —, ele a possuiria! Que calor! Se fossem duas horas, ele já teria chegado, ou estaria chegando. Que sensação indescritível! Depois de uma campanha em que várias vezes desesperara de fazê-lo entender sua paixão, em que usara de todos os ardis e iscas que lhe passaram pela cabeça, até algumas coisas que agora reconhecia terem sido loucura, finalmente acontecera! E de forma tão inesperada, tão poética, tão bonita, tão de acordo com um romance que começara com uma mensagem através de flores! Quer dizer, não começara para ele, mas pelo menos começara para ela. Ele ignorou, ou não compreendeu, o recado dos jasmins miúdos, como não compreendeu dezenas de insinuações, feitas até mesmo durante a viagem para o Rio. Bancava o desentendido, talvez — seria isso mesmo? Bem, não fazia diferença agora, porque já acontecera, acontecera, acontecera! Acontecera na estufa, entre orquídeas, avencas e flores exóticas, ambiente tão úmido que os vidros das paredes e do teto viviam embaçados. Bem, quase acontecera. Quase não, aconteceu mesmo! Como é que dizia Ovídio, naquela ediçãozinha francesa da L’art d’aimer? Como é que ele dizia? Dizia mais ou menos que um amante que consegue um beijo e nada mais consegue não é merecedor nem daquele primeiro beijo. Que diferença há entre um beijo, um beijo sôfrego nos lábios, que faz todo o corpo tremer e derreter-se, e os atos mais íntimos do amor? Nenhuma. Que diferença faz tocar numa parte do corpo e não tocar em outra? Nenhuma. Portanto, acontecera: somente um beijo ávido e apressado dentro da estufa, um beijo tão sequioso que, quando se desprenderam porque ouviram os passos de um jardineiro entre os arbustos, o lábio dele ainda ficou preso em sua boca, soltando-se com um barulhinho positivamente inebriante, uma coisa inexprimível, como ela nunca sentira antes. E a coxa dele encostada à sua durante aquele momento de completo êxtase, o peito que ela roçara bem forte contra o braço dele — será que ele percebera? Claro que sim, que dúvida mais boba. Por que ele dissera à mesa, bem alto, como se fizesse questão de que ela ouvisse bem, que hoje voltaria mais cedo do Ministério? Exatamente por isso, porque queria que ela soubesse e criasse uma oportunidade para o encontro, finalmente o encontro, finalmente o grande instante de sua alma sensível e ardentemente feminina. E já sabia como faria, faria exatamente a mesma coisa que Charlotte, a astuta Charlotte do romance. Como as coisas neste mundo coincidem, não é que parece tudo tramado? Primeiro, a coincidência das flores.
Segundo, a coincidência da cena de Charlotte com M. Dubois, na biblioteca. Querendo seduzir M. Dubois, mas atrapalhada pela inexperiência dele, Charlotte não teve dúvidas: através de maquinações estonteantes, com o auxílio de sua espertíssima criada antilhana, a mulata Kiki, conseguiu fechar-se na biblioteca do marido em companhia do tímido e gaguejante Dubois e, quando viu que ele nunca tomaria a iniciativa que ela tanto encorajava, desfaleceu em seus braços em tal posição que tombou deitada no sommier com ele por cima. “Ah, chéri, tu es si fort, je suis vaincue”, disse então Charlotte, puxando a cabeça do rapaz para seu colo arfante e enfiando-lhe a mão pressurosa por baixo da camisa. Ah, não precisaria desmaiar, o Tico podia ser desajeitado mas não era nenhum pacóvio, como o Dubois. De qualquer sorte, havia um sommier na biblioteca, e a biblioteca era justamente o lugar onde o Tico costumava ficar quando chegava cedo. Talvez as coincidências não fossem continuar, mas, se o Destino quisesse, ela desmaiaria. — Tico, Tico — murmurou quase audivelmente. — Estou vencida, sou tua! — A madame está rezando? — perguntou Dadeca, que se postara atrás dela desde que voltara para dizer as horas. — Está sentindo alguma coisa, madame? Henriqueta caiu em si, quase se traíra, meu Deus do céu. Mas não denunciou seu embaraço e se limitou a perguntar por que a negra ainda não lhe dissera as horas, ficara ali como um fantasma, dando-lhe até um susto. — Mas eu disse, madame. Disse duas vezes, depois pensei que a madame não quisesse mais ouvir, a madame hoje está tão nervosa... — Que é isso? Que intimidade é essa? É verdade, eu te pareço nervosa? Pareço mesmo? Por que dizes isto? — Ah, não sei, a madame não para quieta, parece zangada e ao mesmo tempo alegre... — Deve ser o calor. Mas isso não é coisa para discutir contigo, não tomes ousadia! Que horas são, afinal? — Duas e um quarto. — Muito bem, já estou pronta. A pèlerine eu porei quando monsieur Jean-Louis Gaillard chegar, o resto está certo, tudo pronto, podes ir. Que estás a esperar, podes ir! Fechou a porta atrás de Dadeca, correu até a sacada, debruçou-se, viu a sege de Patrício Macário, desatrelada junto ao primeiro barracão das cavalariças. Ele já tinha chegado, não havia tempo a perder, daí a pouco o pintor apareceria e talvez nunca se repetisse outro ensejo tão perfeito. Ajeitou-se mais uma vez em frente ao espelho, pingou um trisquinho de extrato francês atrás de cada orelha e entre os seios, saiu sem fazer barulho e desceu as escadas. No caminho, achou-se apressada demais, ansiosa demais. Estava nervosa, sim, mas isto não podia acontecer. Parou, respirou fundo, mirou o rosto no grande espelho de moldura de jacarandá. Calma, calma. Ensaiou um sorriso, limpou uma manchinha inexistente no canto da boca, ia recomeçar a andar, quando viu a garrafa de cristal entre os cálices do aparador pequeno, quase púrpura, do vinho do Porto que a enchia. Nada melhor para o nervosismo do que um cálice de vinho do Porto, todos diziam, ela mesma já tomara dele uma vez, quando tivera uma palpitação, e gostara muito. Um cálice não, um dedinho, um cálice podia ser forte demais. Ora, por que não um cálice? O pior que lhe podia acontecer era ficar com os olhos um pouco úmidos, mas isto não era de todo mau, dava-lhes um brilho especial. Bebeu um cálice
todo e imediatamente sentiu a cabeça leve, uma confiança tranquila, a certeza de que tudo resultaria bem. Tomou o corredor que levava à biblioteca, olhou-se no espelho do portachapéus, apertou ambos os pentes no cabelo e, já se preparando para fazer uma cara de surpresa, abriu a porta e entrou. Patrício Macário estava de costas, tirando livros da estante para empilhá-los sobre o bureau, mas ouviu o barulho que ela fez e se voltou. — Já estavas aí? — disse Henriqueta, abrindo muito os olhos. — Não te vi chegar. — Há alguma festa? — perguntou ele, olhando-a de alto a baixo. — Festa? Com... Oh, é por causa do vestido? Não, não é festa, é que hoje vem cá o retratista Jean-Louis Gaillard para a primeira sessão do retrato que me pintará. Não queres que apareça aos pósteros em trajes caseiros, pois não? Gostas? Estava em dúvida sobre se usaria este vestido. Que dizes? — Está lindo, verdadeiramente muito bonito. Aliás, qualquer roupa fica bonita em ti. Ela sentiu que ruborizou, ficou um pouco sem jeito, apanhou um dos livros que ele tinha posto no bureau. Diria agora o que lhe tinha vindo instantaneamente à cabeça? Diria? Teria coragem? Charlotte diria! — Se não gostasses, eu o mudaria logo — disse ficando vermelha outra vez, enquanto fingia que prestava atenção a algum detalhe da capa do livro. Levantou os olhos com firmeza, encarou-o séria. Estava perto do sommier, tinha passado o ferrolho na porta ao entrar, agora era o momento. Caminhou em direção a ele, o coração batendo forte, a boca seca, as mãos tremendo um pouco, mas com uma determinação que espantou a ela própria. — Enlouqueces-me, sabes? — falou muito perto dele. — Depois daquele beijo, nunca mais tive sossego. Por que fizeste aquilo, por que me tiraste a paz? Sei que é uma loucura, mas, quando disseste hoje à mesa que estarias em casa cedo, lutei com todas as minhas forças para resistir a vir aqui e não pude, não pude! Oh, por que me fizeste aquilo? Enlouqueces-me! Baixou o rosto, esperou que ele o puxasse pelo queixo, como fizera da outra vez. Mas, em lugar disso, ele contornou o sommier e passou para o outro lado da sala. — Henriqueta... — começou, parecendo meio embaraçado. — Há uma coisa que queria dizer-te. Aquele beijo... Aquele beijo... — Não precisas dizer nada, sei o que ias dizer. Aquele beijo foi uma insensatez, insensatez divina, mas insensatez. Insensatez mais ainda porque não me sai da cabeça e, honestamente, se me beijasses de novo, não sei se conseguiria resistir. Sei que não devia falar assim, que te pareço atrevida e sem pudor, mas é verdade. Depois daquele beijo, como esconder a verdade de minha paixão? — Henriqueta... — Estás tão lindo, tão forte e tão frágil... Meu Deus do céu, que digo, estou fora de mim, por que me seduziste? Tico... — Espera um instante, Henriqueta, um instante só. O que eu queria dizer-te... O que eu queria dizer-te é muito difícil. Não quero que penses que fui leviano ao beijar-te. Quer dizer, fui, fui sim, afinal és a mulher de meu irmão e eu não tinha o direito de agir como agi. Mas o que quero dizer é que não foi uma coisa que eu faria com qualquer mulher, não é uma coisa de que tens de envergonhar-te, porque te tinha e continuo a ter na maior estima e respeito.
— Eu... — Espera um momento, isto já está difícil por si, não o tornes mais ainda. Não sou de pedra e uma mulher como tu, com tua beleza e encanto, não se encontra com facilidade. — Eu... — Por favor, só mais alguns minutos, por favor. O que quero dizer é... Vês estes livros? São meus, são os poucos que tenho, a maior parte coisas da juventude, que deixei com o meu irmão. Estou tirando estes livros da estante porque vou levá-los comigo. Estou de mudança. — Estás de mudança? Mas como? Como? De mudança? Outra transferência? Mas agora que... Não compreendo! — Não, não fui transferido, permaneço no Rio. Mas não permaneço aqui, acho que não devo ficar nesta casa. — Mas por que razão, por que razão? Agora que nos encontramos, que o destino... — Precisamente por isso. Não podemos viver sob o mesmo teto. — Não podemos viver sob o mesmo teto? Onde está escrito que amantes não podem viver sob o mesmo teto? — Não fales assim, Henriqueta, estás muito exaltada. Não fales assim, não somos amantes. Aquele beijo foi um acontecimento fortuito, um grave erro que, se não podemos reparar, tampouco devemos repetir. — Sim, percebo, fizeste-me de tola. — Não te fiz de tola, cedi a um impulso. E hás de admitir que me provocaste, tu me provocavas sempre. Então, há sempre um momento de fraqueza e... — Sempre um momento não, sempre uma vida de fraqueza! Provoquei-te, sim, provoquei-te e por que não? Por que sou mulher? E porque sou mulher, estou obrigada a aceitar passivamente tudo o que os homens me impõem e a não lutar para conquistar o que desejo? Causa-me vergonha não o que fiz, mas por quem o fiz, ou seja, por ti, que estás bem na tradição de tua família de moleirões hipócritas. Acaso podes apagar o beijo que me deste? Que diferença há entre o que aconteceu e o que podia ter acontecido? Será o mesquinho e tolo prazer masculino em conquistar para depois rejeitar? — Mas não te rejeito, procura compreender. — Não procuro compreender nada! E tens razão, não me rejeitas, quem te rejeita sou eu, pois se te supunha com grandeza de alma e elevação, com a capacidade de perceber que o amor não depende de convenções, mas da pura e simples afinidade de espíritos e corpos, agora sei que não passas de um soldadinho empelicado, talvez até tão duvidoso quanto teu irmão mais velho e tão flácido quanto o outro irmão. — Vê lá o que dizes, Henriqueta, estás transtornada, não há razão... — Claro que não há razão. Mas fica ciente de uma coisa. Se hoje quem passa a vergonha sou eu, por crer na existência de gente melhor do que o comum dos hipócritas, igual aos quais tu te revelaste, amanhã quem passará vergonha serão os que se comportam como tu, selvagens, dúbios, moralistas sem moral, pois as mulheres são a força do progresso e não os homens, os que brandem a espada e têm medo de sombras! Pretendia continuar a falar, mas sentiu que ia chorar e não queria que ele percebesse.
Deu-lhe as costas quase numa meia-volta militar, bateu a porta e correu escada acima com vontade de gritar. No quarto, jogou-se à cama, esmurrando as colchas e os travesseiros. — Nunca vou perdoar, nunca, nunca, nunca! Nunca! Levantou-se, o vestido amarfanhado e o cabelo soltando-se de um lado, olhou-se de corpo inteiro no espelho, teve uma pena enorme de si mesma, uma compaixão que lhe trazia uma dor opressiva ao peito e lhe dava vontade de desaparecer, e chorou de pé. Mas, algum tempo depois, usando outro vestido, um pouco mais decotado do que o primeiro, puxou a campainha para chamar Dadeca. — Ajuda-me cá, Dadeca, tenho de aprontar-me. Enjoei de repente daquele outro vestido, não quero mais nunca pôr os olhos nele. — Sim, madame. Já são quase três horas, madame, o senhor pintor deve estar chegando. — Ele pode esperar. Os cavalheiros esperam pelas damas. E ademais está sendo muito bem pago. Solta-me o cabelo, não o quero preso. — Soltar o cabelo, madame? Ficar com o cabelo solto? Sentar para o retrato com o cabelo solto? — Ouviste o que te falei? Meu Deus do céu, dai-me paciência com a parvoíce e a tacanhice! Falei claramente, Dadeca: solta-me o cabelo! — Sim, madame. Mais bonita não podia estar, vaporosamente azul cor do céu, aureolada por uma nuvem delicada de perfume, os cabelos arrumados em cachos graciosos, um sorriso alvo e franco, ao entrar no salão para falar com o pintor, que a esperava sentado junto a uma janela, contemplando o jardim. — M’sieu Jean-Louis Gaillard? — disse, falando exatamente como as atrizes que vira nos teatros de Paris. O francês levantou-se e, depois de fitá-la como se estivesse vendo uma miragem, curvou-se para beijar-lhe a mão. — Je suis ravi, Madame. Beijara mesmo a mão dela, não dera um daqueles grotescos estalidos no ar, como os homens brasileiros. Enquanto falava distraidamente sobre a impontualidade feminina, ela avaliou monsieur Gaillard com interesse. Muito mais jovem do que pensara e bonito também, apesar da palidez e de uma testa meio abaulada demais. Lindos lábios, até bastante carnudos para um europeu, olhos castanhos sensíveis, mãos fortes, devia também ter os braços e as pernas grossos. — Est-ce qu’on pourra commencer aujourd’hui? — perguntou, mordendo o lábio inferior e sustentando os olhos dele bem dentro dos seus.
17
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1889.
“Estou alarmado”, dizia a certa altura a carta do monsenhor Clemente André, que Bonifácio Odulfo lia com o cenho carregado. “Alarmado, será o termo correto? Não, meu afetuoso e querido irmão, estou, pode-se dizer, em pânico. Sei, muito bem, que a idade já me pesa e me faz descrente dos homens, tantas as misérias, que tenho testemunhado, em minha vida sacerdotal. Igualmente, não ignoro que, consumido pelos achaques, do inverno da vida (quase me leva, à tumba, a erisipela e hoje já não conheço, sequer, um dia, uma hora, de inteiro bemestar), posso estar, a ver o mundo, com certo amargor. Mas, ninguém, em sã consciência, poderá deixar de concordar com o pessimismo, que domina os homens de boa vontade, diante do quadro desolador, o qual nos depara — passe o galicismo, por expressivo, no particular. “Como vês a situação, aí, da Corte? Dá-me algum alento, manda-me uma palavra tranquilizadora. Na Bahia, as notícias tardam, ou à Bahia não chegam, ouvem-se aterradores boatos, a cada instante, a inquietação ronda, como um trasgo infernal, todos os corações. O em que se fala é em República, como se a derrubada de um soberano legítimo constituísse alicerce, em que se pretenda construir uma Nação. Na verdade, com a exceção de um, ou outro, homem de bem, mal orientado, trata-se, apenas, de um bando de estudantes vadios e baderneiros, articulistas e oradores de meia pataca, que está a causar toda essa grita, anárquica, caluniosa e destrutiva. Mas (ai de nós, que, sobre carregarmos um povo ignorante e atrasado, às costas, só temos, por companheira, a desesperança), vivemos num país, onde pequenos grupos de desordeiros sempre foram capazes de, aproveitando-se da índole pacífica do povo (alguns dirão: ovina; com o que me inclino a concordar), fazer, da Nação, o que bem entendem. Tenho, felizmente, consciência de que o Império é sólido e que Sua Majestade está atento, ao que se passa. Deus o ilumine e lhe fortaleça a mão, pois, numa hora como esta, não se pode, absolutamente, agir com pouco rigor. “Mas, tremo, meu estimadíssimo irmão, pois os sintomas, que saltam à vista, são, deveras, perturbadores. Já não se pode sair à rua, sossegado, principalmente, à noite. Já não se pode frequentar qualquer lugar público, dada a presença, cada vez mais opressiva, de uma malta de negros e pardos, desocupados e pedintes, gentinha da pior espécie, cuja linguagem e cuja aparência fazem com que, sempre, pareçamos estar a transitar, pelo Pátio dos Milagres. A Abolição, como eu temia, revelou-se um grande mal. Não estavam, como não estão, os negros, preparados, para a liberdade. Obtusos, broncos, analfabetos, pouco asseados, viciados mesmo, agora exercem, livremente, sua influência deletéria e corruptora, sobre os costumes e a raça. Não procede a alegação de que são vagabundos e vadios, porque não há trabalho. Trabalho há, sempre houve, para quem quer e, para quem não quer, por indolência e fraqueza de caráter, nunca há. Mas, não se tomam, por incrível que pareça, medidas para conter, eficazmente, essa vadiagem. Quando despertarem, os governantes, será tarde demais, para delir tal chaga social e moral, que ameaça fazer desabar tudo o que se vem tentando,
laboriosamente, construir, ao longo de séculos de dedicação e sofrimento. “Vivemos uma crise de autoridade, uma crise de comando, uma crise de valores, uma crise moral, da mais profunda gravidade e não nos damos conta dela, não fazemos nada, para debelá-la. O sentimento religioso vai esboroando-se, a prática bárbara do fetichismo resiste, à oposição débil e inepta, que lhe fazem os órgãos policiais e do Exército, a quem caberia, indubitavelmente, a solene responsabilidade, de defender a integridade espiritual da população. A honestidade é a raríssima exceção; a felonia é a regra. O desrespeito convertese em norma de trato, a ganância dos comerciantes eleva a carestia, a um insuportável ponto, as letras e a cultura decaem, assustadoramente, e, agora, o espectro da anarquia e da desordem avulta, no horizonte. “Tudo isso não pode deixar de causar, em mim, grande desalento. E é a principal razão, por que te escrevo esta carta. Sei que terás imensa surpresa, mas o fato é que pretendo afastar-me de minhas atividades. A desilusão, o fardo de meus cinquenta e nove anos de canseira e vã fadiga, obrigam-me a retirar-me da arena de luta. Pretendo terminar meus dias, em Roma, no recolhimento espiritual e na devoção, aos quais, sou, mercê de Deus, verdadeiramente vocacionado. “As providências já estão, todas, tomadas. Permaneço como Presidente de Honra das Obras Pias; não corto, de todo, os laços que me prendem ao Orfanato e ao Educandário, como, aliás, cortá-los não os poderia, pois que são fruto de meu modesto esforço. Encontrei apoio, da parte do Senhor Arcebispo, que foi muito atencioso, como sempre. Zarpo, no Príncipe Guilherme, no dia 22, com destino ao Rio de Janeiro, onde me demorarei um pouco, para acertar alguns pormenores contigo. Espero que não te cause transtorno hospedar-me, por alguns dias. Seguirei, para a Europa, no Maria Eugênia, no dia 8 de dezembro. Levo, apenas, meus pertences pessoais, alguns livros e, como companhia, somente, o meu fiel secretário, o jovem seminarista, Luciano Borba do Couto Salles Menezes, cujos estudos pretendo patrocinar, em Roma, em troca dos dedicados serviços que me presta, tratando-se de rapaz de excelente família, esmerada educação e não menor cultura. Não te daremos trabalho; podes ficar tranquilo. “Recomende-me, à Dona Teresa Henriqueta, tua santa esposa, e a meus queridos sobrinhos, que antecipo, com alegria, rever. Espero, também, que tenha a oportunidade de estar, para despedir-me, com o nosso irmão caçula, o Coronel Patrício Macário, embora saiba que anda muito afastado de ti, o que, sinceramente, lamento, embora saiba que hás de ter razão, pois o nosso Tico nunca foi dos mais ajuizados da família, nem a carreira militar, que, de início, lhe parecia tão favorável, parece tê-lo acolhido a contento, eis que, de fonte limpa, sei que, nas Armas, é tido, passe o calão, como favas contadas, que não chegará ao generalato. Espero que possa dirigir-lhe algumas palavras, que lhe sirvam de incentivo e espiritual amparo, pois estou seguro de que seu principal problema é a ausência de sentimento religioso, condição que, mercê da Divina Providência, não te aflige, confirmando-o as benesses, derramadas pelo Criador, sobre tua cabeça”. A carta continuava, pois, como sempre, o monsenhor deixava seus intrincados problemas financeiros para o final. Bonifácio Odulfo, porém, não tanto por temer novas despesas, mas porque lhe sobreveio um sentimento inesperado, interrompeu a leitura. Dobrou as folhas da carta sobre a barriga, espichou as pernas por baixo da mesa e, com o olhar
perdido, evocou a família. Era verdade, o monsenhor nascera em trinta, portanto tinha mesmo cinquenta e nove anos. Quase sessentão, como o tempo passa! Ainda outro dia, em Salvador, era apenas um seminarista brincalhão — e agora quem lhe escrevia era um velho, um velho de sessenta anos, com aquela pontuação pesada e caturra que insistia ser a correta, pois se considerava um mestre da prosa, no que não deixava de ter razão. Estilo denso, onusto, mas elegante e castiço. Ideias também sólidas, embora talvez um poucochinho rígidas demais. De qualquer maneira, não tivesse ele dedicado sua vida à educação e à recuperação de menores desencaminhados, seu futuro na Igreja teria sido brilhante, futuro esse agora, subitamente, convertido em passado. Tampouco Bonifácio Odulfo era nenhum adolescente, cinquenta e cinco anos nos costados. Cinquenta e cinco anos! Fosse bem conservado como fosse, cinquenta e cinco anos eram cinquenta e cinco anos, mais de meio século. Sim, senhor, mais de meio século! A saúde, com exceção de uma tossezinha seca que dera para persegui-lo com renitência, estava excelente, a disposição a mesma, a energia igual, a aparência sem alterações, somente uns cabelinhos brancos nas suíças e no peito. Mas o inegável era que já tinha atravessado bem mais da metade da existência, com toda a certeza. Um belo dia, chegaria a hora — e a lembrança da morte o fez levantar-se para andar pela sala. A morte, uma coisa que só acontece aos outros, de repente mostra que está lá, em alguma esquina insuspeitada, aguardando o encontro de que ninguém escapa. Como seria sua morte? Estalou os dedos nervosamente, resolveu pensar em outra coisa. Por que diabo estava pensando em morrer? A família, a família. Depois de certa idade, o homem vê as coisas de maneira muito diversa, de maneira até diametralmente oposta à visão da juventude. Imaginou, divertido, que, se conhecesse agora um jovem parecido com o que ele era até por volta dos trinta anos, não suportaria a convivência de fedelho tão pedante e presunçoso, capaz de declamar besteiras ore rotundo, como se fosse a voz da Natureza. Era outra pessoa, eram todos agora outras pessoas. A família, a família, a família é também algo que, na madureza, se vê diferentemente. O que na primavera oprime, no inverno abriga. Quis anotar o pensamento, para um vago livro que rabiscava de vez em quando, chamado só para ele mesmo de Thoughts on Thoughts, que consistiria de observações sobre máximas, anexins, provérbios, ditos e mots d’esprit. Mas se deteve a meio caminho da mesa: jamais concluiria esse livro e, se o concluísse, não o publicaria. Havia muito tempo, decidira pela inutilidade de tentar comunicar sua experiência, tão rica e variegada, que ele considerava uma marcha em direção à sabedoria, sabedoria que cada vez mais percebia como parte inseparável de sua personalidade. Impossível partilhar tal viagem com alguém, impossível reconstituir todos os passos, ainda mais que se via, honestamente, como uma espécie de gênio. Mais que isso, um leader, um homem capaz de influenciar diretamente os destinos da Nação. Quantas vezes, em momentos solitários e pensativos, não compreendera a realidade com tanta clareza que se deslumbrara, quantas vezes não tinha tido a experiência de ver a verdade, em toda a sua luminosa transparência? Mas como comunicar isto, como fazer alguém mais ver algo que dependia tanto da observação sensível e inteligente, ao longo de uma vida inegavelmente estimulante? Como falar de civilização a quem jamais esteve na Europa e julgava que, pelas pálidas imagens oferecidas nos livros, sabia de alguma coisa? Impossível, chegava até a desesperar um pouco. Afinal, era
mais ou menos como ser estrangeiro no próprio país. E também não era europeu, não tinha, de certa forma, uma nacionalidade, no sentido espiritual. Seria esse o destino dos homens de élite? Que solidão causam o gênio, a sensibilidade, o conhecimento, chega a ser melancólico. E agora a carta de Clemente André lhe lembrava tanta coisa... Sim, por que esse afastamento na família, por que essa distância, quando eram tão poucos e, já ficando velhos, deviam aproximar-se? Nunca mais voltara à Bahia, a não ser em duas ocasiões, que não houve como evitar. Na verdade, passara, como Henriqueta, a ter horror à Bahia, lugar atrasado, de gente tacanha e limitada, cidade imunda e desconfortável, conversas destituídas de interesse e uma mestiçagem generalizada, que não podia deixar de chocar uma pessoa bem acostumada. O Dr. Noêmio cuidava muito bem dos negócios por lá e o filho mais velho do Vasco Miguel — que coisa impressionante, quem diria que já fazia seis anos que o cunhado morrera, tão apaticamente quanto vivera, seis anos! — estava demonstrando que não saíra ao pai e se revelava um talentoso dirigente comercial, diferente da placidez marasmódica do assim mesmo saudoso finado. Então? Vasco Miguel falecido, os sobrinhos na Bahia, o monsenhor indo para Roma e aquele afastamento de Patrício Macário, afastamento que já durava quanto tempo? Mais de quinze anos, com certeza, quase vinte. Quase vinte anos, em que praticamente só se viram no enterro de Vasco Miguel e, assim mesmo, sem se cumprimentarem. Claro que tinha razão, o que Patrício Macário fez não podia receber perdão nem justificativa. Ainda se lembrava com vividez do dia em que Henriqueta, sem poder conter o pranto, lhe contara, nervosíssima e aflita, que o Tico a assediava. Seu próprio irmão, dentro de sua própria casa! Quase perdera a cabeça, mas a Henriqueta, sempre uma mulher extraordinária, o fizera ver as coisas com frieza. Não era necessário cometer nenhum desatino, causar nenhum escândalo, afinal, de concreto, não tinha havido nada. Patrício Macário já compreendera perfeitamente a repulsa dela, tivera pelo menos a dignidade de tomar a iniciativa de deixar a casa. Agora era esquecê-lo, deixar que fosse viver sua vida, explicar a quem perguntasse por ele que seus deveres militares o compeliam a viver longe da família. Bonifácio Odulfo, depois de uma noite em claro em que somente a fortaleza de Henriqueta evitara que chegasse a um colapso nervoso, até mesmo uma congestão, aceitara o fato com calma. Apenas, é claro, quando o irmão, no dia seguinte, procurou-o para despedir-se, recusou-se a recebê-lo e em seu lugar mandou Octaviano, que lhe entregou um bilhete simples e digno, no qual as relações entre os dois eram cavalheirescamente rompidas. Como frisou Henriqueta — que mulher extraordinária! —, foi um gesto de superioridade, que talvez um dia calasse na consciência de Patrício Macário. Mas agora, passados tantos anos, o rancor se diluíra, era apenas uma sombra amarelada, uma mancha de que o tempo retirou a importância. Coitado do Tico, sempre um cabeça tonta, um impulsivo primário, um rebelde voluntarioso, que, como observara o monsenhor em sua carta, nem mesmo na vida militar, onde inicialmente parecia que ia dar-se muito bem, tivera sorte. Após uma participação na Campanha do Paraguai reputada como brilhante, acompanhada por uma série quase vertiginosa de promoções, estagnara na carreira, vivia de posto burocrático em posto burocrático, era realmente um oficial obscuro. Coitado, falta de estudo, falta de preparo, falta de tantas qualidades que a Natureza prodigalizou aos irmãos e com ele foi avara. Olhou novamente a carta do monsenhor, ficou com os olhos úmidos. A voz do sangue, afinal, fala alto, o vulgo tem razão. Que sentido havia em prolongar
o ostracismo de Patrício Macário, a essa altura? Já não tinha a vida castigado o infeliz suficientemente? As notícias que davam dele eram de que se tornara caladão, ensimesmado, vivendo como um eremita numa casinha em Matacavalos, quase sem amigos, embora metido com republicanos. Ainda por cima, isto. Metido com republicanos, que se julgavam uma espécie de vanguarda intelectual, pretensão visível na leitura dos panfletos e jornalecos que infestavam o Rio de Janeiro, mas não passavam de — qual a palavra apropriadíssima que usara o monsenhor? — sim, baderneiros. Um caso de polícia até, um mero caso de polícia, pois não havia o chefe de Polícia proibido que se fizesse qualquer manifestação, ainda que simplesmente pessoal, em favor das ideias republicanas? Se bem que os boatos pululassem cada vez mais, mas não passavam disso mesmo e a calma do Visconde de Ouro Preto, com quem conversara não fazia muito tempo, demonstrava que a situação era estável. Só podia ser, porque que sentido haveria em alterar a forma de governo, qual a finalidade de passo tão radical? A Inglaterra, exemplo de perfeição social, administrativa, cultural, moral, religiosa e econômica, era uma monarquia. A França, ao contrário, com sua tal Terceira República, debatia-se em crises sobre crises. Os Estados Unidos da América eram uma república, mas por que seguir o exemplo de um país primitivo e sem tradição, cujo rompimento com a Inglaterra somente o afastara da linha mestra do avanço da Humanidade? Era essa frivolidade do povo brasileiro, sua fascinação infantil com modas, seu instinto novidadeiro, que constituíam talvez o traço de caráter mais negativo de um povo sem definição e sem caminho. E lá estava Patrício Macário metido nessa aventura desmiolada, nessa perda de tempo sem sentido, nessa quixotada que seria até engraçada, se não fosse por outro lado irritante. Não, não, alguma coisa havia que ser feita para outra vez aglutinar a família. Podia não ser o mais velho, mas era incontestavelmente o herdeiro do pai, o patriarca, portanto. Isto acarretava deveres mais altos do que os ditames das conveniências pessoais e dos ressentimentos acumulados, por mais justos. Verdade, verdade. A carta do monsenhor viera como uma espécie de alerta, um poderoso lembrete do dever negligenciado. Felizmente, tudo acontece no tempo certo. Antes não estava preparado, as circunstâncias também não eram as mais adequadas. Agora sim, agora era o momento de dar uma lição de grandeza, discernimento e responsabilidade. Orgulhou-se da maneira natural, por isso mesmo edificante, com que chegara a conclusão tão óbvia e tranquila. Eis a sabedoria, o equilíbrio, o que o distinguia das demais pessoas — essa capacidade formidável de renovar-se sempre, de adaptar-se às situações entrevindas, de enxergar o que era certo fazer, na hora certa. Restava agora enfrentar a resistência de Henriqueta. Ela jamais falava no nome do Tico, era como se ele tivesse morrido. Mas conhecia o coração dela, era generoso, atirado, impulsivo e, do mesmo jeito com que se perdia numa fúria de curta duração, perdoava num ímpeto amoroso, tão despido de segundas intenções como o afeto de uma criança. Não era à toa que, em toda a alta sociedade do Rio de Janeiro, não havia dama tão estimada como ela, fosse pelo seu incansável trabalho de mecenato, amparando dezenas de jovens artistas que lhe tinham verdadeira adoração, fosse pelos salões que presidia, onde a tônica era o bom gosto, o refinamento, a lhaneza fidalga de trato. Tinha certeza de que ela aceitaria a ideia que terminara de tomar corpo em sua mente:
uma reunião de família, um encontro onde se aparassem arestas incômodas, onde se restabelecesse a boa vontade perdida e se reatassem os laços afrouxados. A oportunidade da vinda do monsenhor era preciosa. Mostraria a ela como isto faria bem a Clemente André, que se mudava para tão longe, talvez para nunca mais estar com eles, pelo menos no Brasil. E como faria bem ao senso de estirpe, de linha dinástica, de orgulho familial que tinha como ponto de honra inculcar nos filhos, Luiz-Phelippe e Isabel Regina, os quais, na verdade, conheciam muito pouco os parentes. Sim, era um argumento importante, importantíssimo. Estava resolvido. Reuniria festivamente a família, perdoaria a Tico, despedir-se-ia condignamente de seu irmão prelado. Era o dever de chefe de uma família que, se já não era, viria a ser, inevitavelmente, uma das mais importantes do Brasil. Sentou-se outra vez, com um sorriso satisfeito. Folheou distraidamente a carta do irmão ainda alguns instantes, lembrando imagens coloridas da infância, a mesa do almoço presidida por Amleto nos domingos de sol, Teolina feliz apesar do ar perenemente sofrido, Carlota Borromeia, pálida e esquiva, rindo ao contar como eram suas lições de piano, o jardim lá fora resplandecendo em todos os matizes, a brisa enfunando as cortinas, os amigos conversando sobre coisas que na época soavam elevadíssimas, inteligentíssimas e fora do alcance de quem não tivesse muito estudo e experiência, as terrinas fumegantes singrando os corredores como naviozinhos aéreos nos braços das negras, cheiros e sabores jamais recuperados, encantos jamais revividos. Franziu para baixo os lábios com tanta força que as bochechas tremeram, achou que não conseguiria conter o choro. Se fosse obrigado a falar naquelas reminiscências, talvez não o contivesse mesmo, mas felizmente estava só, senhor de seus domínios, podendo fazer o que quisesse, absolutamente o que quisesse, até decretar feriado para as centenas de empregados que lá fora trabalhavam, alheios aos sentimentos que abalavam tão fundo a alma daquele homem solitário e isolado como um general que do alto perlustra a batalha com o espírito em fogo, enquanto os soldados, meros joguetes no magnífico panorama da História, lutam sem partilhar do mais fundo sofrimento, qual seja o do homem que comanda e que conhece as implicações dos grandes lances em que se decidem os destinos dos povos. No olho direito, impertinentemente, aflorou uma lágrima obdurada, que ele praticamente engoliu com o canto da pálpebra, passando as costas da mão no rosto para enxugar o filete úmido que ela ainda conseguiu formar-lhe sobre a face. Não, não choraria, o choro não levava a nada, não significava nada além de um momento de fraqueza e esses momentos só valem quando impelem à ação os que os enfrentam. Durante quase um minuto, o sorriso se transmutando aos poucos numa expressão obstinada, permaneceu com as mãos crispadas nas beiras da mesa. E, como se uma força repentina o dominasse, passou da contemplação aos atos. Arrancou a primeira página de um bloco de anotações, molhou a pena no tinteiro e redigiu, depois de amarfanhar diversas folhas, um telegrama para Clemente André, em que, numa linguagem de início excessivamente derramada, depois corrigida à custa de canetadas vigorosas que chegaram a furar o papel, exortava-o a vir o quanto antes, para ser recebido festivamente por uma família unida e saudosa. Espichando os braços para melhor enxergar o papel escrito, satisfez-se com o trabalho, acrescentou duas vírgulas para que o irmão não lhe censurasse a falta de zelo em relação aos complementos adverbiais e calcou com as duas mãos o buvar do mata-borrão sobre todo o texto. Estava pronto, definitivo, irretocável, como tudo de sua lavra. Com o
indicador muito esticado, tomando cuidado para não se expor a algum acidente imprevisível, apertou o botão da campainha elétrica que mandara instalar relutantemente, porque, ao contrário de Henriqueta, desconfiava de que havia algo explosivo em coisas que disparavam sem que ninguém lhes desse corda. Como a sala era entrincheirada por uma barreira labiríntica de portas, desvãos e móveis elefantinos, não conseguia ouvir a campainha, que devia estar soando na antessala onde trabalhava Octaviano. Coisas modernas, coisas exasperantes — pensou, enquanto, como se tivesse dificuldade em parar, bicava com o dedo o botão preto e lustroso. Octaviano — sim, este também, agora que o assunto lhe aparecera, encarnando a própria figura da decrepitude já não tão incipiente assim, numa postura tão gebosa que às vezes dava a impressão de que o impedia de olhar adiante, o aspecto desgastado e desiludido de quem não soubera vencer na vida apesar das oportunidades que o trabalho lhe oferecia, quase um velhote encarquilhado — assomou à porta, ajeitando a casaca. — Sim, senhor. Alguma coisa grave? A campainha... — A campainha existe para chamá-lo, Sr. Octaviano, não há por que estranhar que ela seja usada. — Sim, senhor, naturalmente. Mas é que o toque foi tão insistente que pensei... — Pense menos, Sr. Octaviano, aja mais. — Sim, senhor. — Eis aqui um telegrama, que acabo de redigir e que necessito mandar expedir imediatamente. — Sim, senhor. Urgente? — Urgente. Leia-o, para verificar se compreende tudo o que está escrito aí. — Perfeitamente, Dr. Bonifácio Odulfo. Perfeitamente, está muito claro, perfeitamente. — Tem certeza? Não seria a primeira vez em que lhe entrego um original sem falhas para depois deparar-me com uma cópia errada. — Sim, senhor, mas está tudo perfeito, muito claro, muito claro. O senhor quer que eu o leia em voz alta? — Faça-o. Ficou olhando para cima, enquanto Octaviano, ajeitando os óculos com os dedos trêmulos, lia as doze linhas do telegrama como quem declama. — Um momento. Onde está “cabalmente”, coloque “à saciedade”. — À saciedade. Sim, senhor. — Leia de novo. Não, não, deixe “cabalmente” mesmo. Fico com medo de que o telegrafista entenda “saciedade” como “sociedade”, nunca se deve subestimar a ignorância dos funcionários brasileiros. — Sim, senhor. Cabalmente. — Sim, agora leia de novo. Acompanhou desta vez a leitura com movimentos de cabeça. Muito bem escrito, realmente, muito bem escrito. — Está certo, Sr. Octaviano. Muito bem, pode despachar o telegrama. Ah, sim, um momento. A chave da saleta do telefone está consigo?
— Sim, senhor. O senhor precisa dela? — Claro que não. Que iria eu fazer com ela? O que eu quero é que o senhor me providencie uma chamada telefônica. O telefone está funcionando hoje? — Ainda não verifiquei, Dr. Bonifácio Odulfo. Talvez não esteja. Esses aparelhos são muito delicados, vivem quebrando e hoje talvez os problemas tenham alguma influência sobre eles. — Problemas? Que problemas? — Está nos jornais, doutor. E é o que se comenta em toda a cidade. — O senhor sabe muito bem que não leio jornais brasileiros, ainda mais essa tralha anárquico-republicana que parece ser a única coisa que se publica neste país. Muito menos tenho tempo para prestar atenção a boatos. Mas o que há de novo? — A notícia é que o marechal Deodoro da Fonseca e mais alguns cabecilhas republicanos serão presos amanhã. Há um clima de grande movimentação, só o que se fala é na queda do Governo. — Bobagem. Se forem presos, melhor para o país. Não vai acontecer coisa alguma, estou acostumado a este tipo de boataria. Tem outro nome. Chama-se falta de ter o que fazer. Vá verificar se o telefone funciona. Depois, veja se é possível fazer uma chamada para a repartição do Exército onde meu irmão, o coronel Patrício Macário, trabalha. Não sei qual é, nunca me interessei em saber. Procure ver isso com tanta brevidade quanto possível e venha dizer-me o resultado. — Sim, senhor. Octaviano saiu, Bonifácio Odulfo levantou-se, foi até a janela, ficou olhando o largo da Glória lá embaixo. Grande ideia, usar o telefone. Assim evitaria uma carta que poderia comprometê-lo e se dirigiria ao irmão de viva voz, precisamente no tom de condescendência que planejava empregar. Que bela invenção, o telefone, pelo menos de alguma coisa valia ter dinheiro e prestígio. Pena que usá-lo demorasse tanto, deixando-o ansioso a ponto de não conseguir mais prestar atenção aos assuntos cujos papéis repousavam sobre a mesa. Assim mesmo sentou-se, puxou para si a pilha de papéis e começou a examiná-los, mas, depois de quase meia hora, observou que, se lhe perguntassem o que tinha acabado de ler, não saberia responder, não prestara atenção a nada. Diabo, será que a azêmola do Octaviano não ia conseguir nunca a tal ligação? Apertou a campainha outra vez, Octaviano entrou na sala meio esbaforido, os cabelos desgrenhados, a casaca torta como se acabasse de ter sido recolocada no corpo às pressas. — Sim, senhor! Se é pela ligação, Dr. Bonifácio Odulfo, já estamos quase conseguindo! — Já se passou quase uma hora, Sr. Octaviano, não posso esperar o dia inteiro. — Eu sei, Dr. Bonifácio Odulfo, é que houve um pequeno incêndio nas instalações da companhia dos telefones e as conexões se tornaram um pouco demoradas, mas o telefonista... — O quê? — O telefonista, o atendente que responde por esse serviço de ligações. O telefonista me garantiu que, dentro de poucos minutos, teremos concluído a ligação. — O telefonista... Daqui a pouco, mais esse barbarismo será registrado nos léxicos.
Telefonista, francamente... Está certo, Sr. Octaviano, mas, se o seu telefonista — que palavra, meu Deus do céu! — não conseguir a ligação dentro de mais um quarto de hora, venha avisarme, porque tenho urgência e, nesse caso, mando um mensageiro. — Sim, senhor, mas não será necessário. Tenho certeza de que será tudo coroado de êxito, doutor. Tenho a sua licença? — Vá, vá, vá, avie-se. — Sim, senhor. Octaviano saiu apressado como entrara e, mal fechara atrás de si a porta da sala, voltou. — A ligação, doutor! Bonifácio Odulfo levantou-se, empertigou-se, ajeitou a roupa, passou a mão apressadamente pelos cabelos, pigarreou, fez uma expressão sisuda e acompanhou Octaviano à saleta do telefone, de onde os outros empregados, a quem lançou um olhar incomodado, saíam como se tivessem acabado de presenciar um milagre. Entrou na saleta, pigarreou outra vez, recebeu das mãos de Octaviano o escutador de seu moderníssimo aparelho alemão, instalou-se curvado para a frente na cadeira que lhe foi puxada diante do consolo. — Retire-se — falou. — É uma conversa particular. — Sim, senhor. Mas a conversa foi difícil. A voz de Patrício Macário, soando como os guinchos de uma caixa de música desregulada, convertia todas as vogais num e fechado e mal se entendia o que ele falava, em ondas que se elevavam e depois pareciam fluir para uma distância inatingível. Contudo, pôde ao menos compreender, entre gritos que de tão altos espirravam pelas frestas da saleta, que Patrício Macário prometia procurá-lo assim que pudesse, logo que se definissem alguns acontecimentos importantes, a deflagrar-se em breve, a qualquer instante. Agora não podia nem falar, não só porque certas coisas não devem ser ditas ao telefone, como porque o tempo era curto. Bonifácio Odulfo quis saber que acontecimentos eram esses, tão sérios assim. — É fato o que comentam os boatos? — Como? — É verdade o que se comenta? — Como? — São fatos relacionados com o Governo? — É, é! Não me pergunte nada agora, depois explico! — Não achas que são boatos, apenas boatos? — O quê? — Boatos! Boatos! — Como? — Boatos! — Não compreendi! Depois falo, porque... O telefone emudeceu, permanecendo somente uma sucessão tenebricosa de estalidos, estrompidos e chiados, que podiam ser até o sinal de que aquela geringonça ia mesmo explodir ou evolar-se em chamas. Bonifácio Odulfo abriu a porta da saleta, chamou Octaviano e disse-lhe que desligasse o aparelho, observasse bem as recomendações de segurança para
que não esquentasse demais e não incendiasse o prédio, como acontecera na estação central. Saiu satisfeito com o contato realizado, apesar das pequenas dificuldades, naturais quando se empregam instrumentos pouco costumeiros, embora aperfeiçoados pela técnica moderna. Patrício Macário viria até ele e tudo se encaminharia como desejava, ninguém podia ignorar uma chamada telefônica.
Cocorobó, 1o de março de 1897.
Como toda mula madrinha, a mula Periquita não tropica, não passarinha, não aperta nem afrouxa o passo à toa, não olha para os lados, não embaraça os cascos nas catanduvas, segue marcha firme pela caatinga, sem necessidade de que se ensine o caminho a que está acostumada. Por que então empacou ao chegar à aba daquele tabuleirinho, que conhece desde que nasceu? E, depois de continuar a marcha com relutância, não quase passarinhou, as ventas arregaladas, a cabeça agitada, as patas dianteiras levantando-se como se estivessem preparando o empino? — Siu aê, Periquita! — disse Filomeno Cabrito, correndo para junto da cabeça dela e segurando o cabresto. — Siu aí, xente! Que diacho dera nessa mula, sempre tão de confiança, sempre trabalhadora séria, fazendo adivinhação numa hora daquelas, assustando as outras e empatando a rapidez da marcha? Tinham esticado umas boas léguas de Uauá com aquela tropinha de mulas, carregando pólvora, cartuchos e armas para o Arraial de Canudos, ainda havia muito caminho a bater, fazendo desvios por causa dos soldados que já formigavam por ali, como era que ela resolvia atrapalhar dessa forma? Filomeno não soltou o cabresto, examinou a mula, deu-lhe uma palmadinha nos quartos. Agora parecia calma, mas ainda bufava e balançava a cabeça de vez em quando. Ele espiou-lhe as orelhas para ver se não tinha entrado algum bicho numa delas, não encontrou nada. Passava do meio-dia, talvez os soldados já estivessem no Rosário, rente ao arraial, prontos para atacar. Será que aquela mula estava farejando macaco no ar, a fraqueza do Governo? Deu um assovio baixo para chamar o menino Caruá, que ficara na rabada aguentando as duas mulas de trás e teve de demorar um pouco em atendê-lo. — Será que essa mula está farejando alguma coisa? — perguntou Filomeno. — Nunca vi ela tão esquisita. — Está tudo assim, as outras quatro também estão assim. Acho que é coisa que elas estão farejando, sim, é coisa. Não sei o que é, mas elas não ficam desse jeito assim sem quê nem mais, alguma coisa é. Mas ela está melhor agora, espie, nem bufa mais. — Mas, se foi coisa que ela farejou, não pode ter sumido assim de uma vez, só se voasse. — Bom, nós temos é que andar, não é isso que nós temos? — É, vamos puxar. Ê, mula Periquita! Muuula! Caruá correu para trás, se benzeu olhando a caatinga em torno, achou que também tinha
farejado alguma coisa. Talvez até não coisa ruim, podia ser coisa boa, uma proteção mandada do Alto para aquela missão perigosa. Quem anda com Deus e Nossa Senhora não tem medo de nada, pensou e se benzeu outra vez. Filomeno, apesar de resolvido a não sair mais de junto de Periquita, terminou por se esquecer do que havia acontecido, mesmo porque a mula agora andava sem perturbação, a cabeça estoica subindo e descendo enquanto rompia a caatinga como se tivesse pressa. Boa mula, boa marcha, e Filomeno respirou fundo. Depois da chuvinha que tinha caído fazia pouco, a terra estava cheirosa e o sertão uma grande beleza viva, dando-lhe uma alegria de bode novo solto, um contentamento que o fazia andar aos pulos. Estava feliz, muito feliz, tinha encontrado a vida como queria, não só a vida como a esperança. Nada era mais como no sertão de Conceição do Canindé, nada era mais escravidão pior do que o cativeiro dos pretos, nada era mais fome, nada mais era a sensação de que não havia lugar no mundo para ele. Havia, sim, era esse lugar que perlongava orgulhosamente ao lado da mula Periquita, indo levar armas para o santo combate em que outra vez mostrariam, aos tiranos que os queriam subjugar, humilhar e submeter a leis malditas e tiradas sabia-se lá de onde, que não havia como vencer a fé e o amor à terra. Venceriam nada, nunca venceriam, nunca lhe tirariam a ventura de viver como sempre quisera viver, no meio de sua terra, falando suas palavras, comendo sua comida, sabendo de suas respostas, não vendo em ninguém um estranho, tudo como deve ser no mundo, tudo no mundo exatamente como deve ser. Ainda não estava como devia ser, mas se tornaria no que devia ser e o dia em que isso ia acontecer não se encontrava longe, mas até perto, muito perto. Filomeno sorriu e nem reparou que a mula, embora não passarinhasse, se inquietava outra vez. Mas Caruá correu para seu lado e lhe perguntou se não tinha observado nada. Não, não tinha visto nem ouvido nada, estava entretido com uns pensamentos, assuntando nas belezas da vida e na bondade de Deus. Mas por Cristo Redentor, mestre Filomeno, não está vendo que esse mato está vivo de gente? Filomeno estacou a mula, prestou atenção na caatinga. De fato, que silêncio mais aleivoso, não era bom silêncio. Começou a olhar as plantas para ver se achava sinal de gente, mas não teve tempo nem de se abaixar para examinar um quipá com cara de pisado que lhe chamara a atenção, porque ouviu um ruído, sentiu um clarão estourado na cabeça e só acordou bastante depois, com uma dor muito forte, amarrado de pés e mãos e atirado ao chão, diante de um homem fardado que lhe dava pontapés nas costelas. — Então? Acorda, cabra safado! Acorda, peste ordinário, cadê essa valentia de bandido? Acorda, ordinário! Filomeno quis mexer o tronco para virar-se na direção do homem, mas não conseguiu mover-se, haviam-no deitado de lado e uma corda ligava a amarra dos pés à das mãos, pelas costas. — Não precisa se virar para falar, fique quieto aí mesmo! — gritou o homem, dandolhe outro pontapé. — Que foi que teve? — Tu não tem nada de perguntar nada, cachorro! Desferiu novo pontapé, desta vez com muito mais força do que os anteriores, Filomeno teve um acesso de tosse.
— Qual dos dois é o chefe desse contrabando? — perguntou outro homem, que Filomeno não podia ver. — Deve ser este daqui — respondeu o que dava os pontapés. — É o mais velho. — É, eu sou o chefe, o chefe sou eu! — gritou Filomeno, percebendo que também falavam em Caruá. — Ele nem sabe nada do que eu estou trazendo, isso é um menino que eu tratei para cuidar das mulas. — É, deve ser mesmo, o chefe é ele — disse o segundo homem. — Então mate este daqui, só precisamos levar um conosco para ser interrogado, já estamos atrasados. — Vosmecês vão matar o menino? Mas o menino não fez nada, eu é que tenho a responsabilidade! — Cale a boca! — disse o primeiro homem, com mais um pontapé, agora na boca do estômago de Filomeno, que, sem poder dobrar-se com a dor, perdeu os sentidos alguns instantes. Mas voltou a si ainda a tempo de ouvir vozes surdas conversando a curta distância e, logo em seguida, três disparos, o primeiro acompanhado por um gemido abafado, os dois outros sucedidos pelo bulício dos pássaros espaventados com o barulho. — Vai enterrar? — perguntou uma voz aguda. — E deixar os urubus com fome? — respondeu o homem que dera a ordem para a execução. — Quando eles matam os nossos, também não enterram, comigo é olho por olho. — Sim, senhor. Posso pegar o cinturão dele? É um bonito cinturão, não merece ser deixado aí, tenente. — Pegue, pegue. Aproximaram-se de Filomeno, desta feita por todos os lados. Deviam ser uns dez ou doze, certamente um piquete da tropa meio perdido por ali, ou então sinal de que o Exército estava mais perto do que se pensava, já teria atacado Canudos? Não podia dizer nada, apenas ouvir o que discutiam sobre sua sorte. O primeiro homem perguntou ao segundo se não iam interrogá-lo logo ali, não seria difícil fazê-lo falar com umas boas espadeiradas. Mas o segundo respondeu que não, já sabiam tudo o que queriam saber no momento. Eram armas para os fanáticos, estavam apreendidas, seriam levadas para o Angico. O resto — como as conseguiram, quem as conseguira — apurariam depois, não interessava agora. Podia ser que escurecesse antes que chegassem ao Angico e não seria bom marchar à noite, cansados e em terreno desconhecido. Ordenou que desamarrassem as pernas de Filomeno e o levantassem, mas ele não conseguiu manter-se de pé e teve de ser amparado por dois praças. — Sabe o caminho até o Angico? — perguntou-lhe o jovem oficial de infantaria cujo rosto, de barba e bigodinho encerado, agora podia ver claramente, apesar da tontura. — Sei. — Sei, sim senhor! — corrigiu o oficial imperiosamente. — O senhor também sabe? O oficial adiantou-se um passo, levantou o braço direito e esbofeteou o rosto de Filomeno com toda a força. — Não admito insolência! — gritou. — Ralé! Fanático ignorante! Haveremos de ensinar a toda a sua gentalha degenerada como se trata um oficial do Exército da República! Ou ensinaremos ou os eliminaremos, gente como vocês são a vergonha da Nação!
Acalmou-se de repente, voltou para junto de Filomeno, falou-lhe muito perto do rosto. — Escute bem. Você vai nos guiar até o Angico, na fazenda velha. Temos dois praças muleiros que vão conduzir as mulas atrás de sua indicação. Um outro praça estará grudado a suas costas para lhe estourar os miolos, se houver qualquer traição. Se cairmos numa emboscada ou formos guiados para o lugar errado, o primeiro a morrer é você, isto eu lhe garanto. Eu sei que devemos tomar a direção mais ou menos do sudeste, tenho um aparelho que me diz em que sentido estou indo. Por isso, não procure me enganar, porque não vai ser possível. Filomeno, cambaleando no início mas logo se firmando, foi para a frente da linha de mulas, viu de soslaio Periquita querendo renegar o cabresto seguro por um praça preto, que lhe batia muito sem conseguir dominá-la. — Siu aê — disse a ela, porque não queria que ela apanhasse, e ela se aquietou. — Vamos andando — falou o soldado destacado para acompanhá-lo, que já tinha sacado a pistola. — Tenente, o senhor não acha que é arriscado sermos guiados por um homem desses? — perguntou alguém. — Ele não é besta de me enganar. Picanço vai atrás com uma pistola encostada na cabeça dele e eu estou de olho na bússola, sei que a direção é sudeste, só não conheço os caminhos. Não pense que essa gente raciocina, são instintivos, estão na fronteira entre a humanidade e a animalidade. Não se preocupe. Ao Angico, então. Filomeno, neste caso, tinha de andar à frente da mula, porque ela estava caminhando para o arraial. Mas levaria esse povo mesmo para o Angico, para que eles encontrassem seus companheiros e juntos o torturassem até a morte? Era morte certa em qualquer circunstância e antes uma morte decente, que sirva para alguma coisa, do que uma morte sem razão, que só sirva ao inimigo. E o tal aparelho? Ah, que aparelho, que bexiga de nada, se o aparelho valesse não precisariam de guia. Olhou para Periquita, persistindo no seu passinho firme em demanda do arraial, se orgulhou dela, continuou a fingir que a guiava, era o que Deus quisesse. O mato, contudo, agora que a coluna silenciava e só se ouvia o barulhinho das passadas e dos homens e bestas roçando nas folhagens, continuava vivo de gente, tinha certeza. Não era rastreador, mas podia ver sinais de passagem, sentir alguns cheiros fortes, o de fogo abafado, o de borra de café derramada na terra. E não era gente deles, com certeza, porque não estropiava os matos na passagem, era gente que sabia como andar ali e para onde ia. Gente do Conselheiro, gente sua? Quis acreditar que sim a princípio, depois resolveu que tinha certeza, alegrou-se sem alterar o passo nem a expressão, agora era uma questão de tempo. Sim, e também de tempo para morrer, porque o soldado Picanço, que havia passado na cintura a corda que o amarrava, não desencostava a pistola, trocando-a apenas de mão volta e meia. Filomeno imaginou se iria para o céu, tendo uma morte violenta assim, sem confissão, comunhão, extrema-unção. Talvez não fosse, mas também talvez fosse, porque num caso desse tipo é possível que Deus veja que o sucedido não foi pela vontade do moribundo. De qualquer forma, principiou a rezar silenciosamente, para no fim encomendar a própria alma com simplicidade, pedindo perdão pelos pecados.
Talvez estivesse rezando ainda, novamente perdido nos próprios pensamentos, quando o comandante do piquete mandou fazer alto. Queria verificar o andamento da marcha, saber quanto tempo faltava para chegarem ao Angico, se chegariam lá antes do anoitecer ou não. Filomeno respondeu que a noite costumava cair de repente por ali, ainda mais se voltasse a chover, como parecia bem possível, de forma que o melhor era pensarem que já estaria escuro quando chegassem, teriam que fazer marcha noturna. O comandante não gostou da informação, ameaçou surrá-lo ou mesmo executá-lo imediatamente. Tomou de seu aparelho, levantou uma espécie de tampa e, assumindo várias posições no capão de mato onde estavam, fez algumas leituras com a expressão muito concentrada. Chamou um praça, pediu-lhe que tirasse de uma sacola de campanha uma carta geográfica, que dobrou para consultar com maior facilidade. Tomou algumas notas, computou medições, chamou o outro graduado para mostrar-lhe o que estava fazendo. Depois de uma longa conversa, assentiu vigorosamente com a cabeça a alguma coisa que lhe falou o outro e fez um sinal para que continuassem a marcha. Filomeno chegou a achar graça em todo o ritual, mas não se notou nenhuma mudança em seu rosto, quando, com um estalinho de beiços para Periquita, retomou o caminho. Sim, a noite cai de repente na caatinga, tão de repente que muitas vezes parece que o passante pisca os olhos e, quando os abre novamente, vê que a noite já tomou o lugar do dia. Assim aconteceu com todos os que iam naquela tropa, menos com Filomeno, que conhecia cada sinal da noite e sabia que ela vinha chegando no passo de sempre, sem pressa nem vagar. O comandante mandou acender duas lanternas, uma na frente e outra na retaguarda, a coluna enveredou pela Trilha do Velho e, de súbito, uma sucessão de detonações encadeadas estourou dos matos, as luzes se apagaram e Picanço, com dois estertores, desabou no chão, entre gritos, correrias e os upas das mulas. Sem enxergar nada além dos clarões que precediam os estampidos, Filomeno, caído junto ao soldado, viu logo que ele estava morto e procurou livrar-se da corda que os unia, sem resultado. Mas os tiros cessaram tão inopinadamente quanto começaram, permanecendo apenas um vozerio, poucos gritos, algumas ordens incompreensíveis, palavras que soavam como xingamentos. Logo também isso parou, embora se pudesse notar que havia muita movimentação em toda a cercania. E luzes também, não as lanternas, que deviam ter sido destruídas pelos tiros da emboscada, mas uns fifós. Quem seria? Uma volante de Chico Ema varando a caatinga para espiar e chuchar os macacos? Coisa dirigida pelo danado do velho Macambira, que sabia tocaiar soldados melhor que um cachorro mateiro sabia tocaiar preás? Fosse quem fosse, era gente amiga. — Olhe eu aqui! — gritou Filomeno na direção de um dos fifós. — Eu! Dois homens que ele nunca tinha visto antes se aproximaram. O mais velho, um cabra talvez de uns cinquenta anos, se abaixou com uma faca na mão, pediu ao outro que trouxesse o fifó para perto, a fim de ver o rosto de Filomeno. O chapéu, parecendo o de um cangaceiro, estava pendurado ao pescoço pelo barbicacho, mostrando uma cabeleira encaracolada toda branca. — Está ferido? — perguntou, e só então Filomeno notou que o sangue do soldado Picanço lhe havia salpicado o rosto e o gibão. — Não, é sangue dele. Eu estou amarrado nele. — Ah, ajude aqui, Lourenço.
Lourenço tomou a faca do mais velho, cortou a corda, ajudou Filomeno a erguer-se. — As mulas! — disse Filomeno assim que se viu de pé, lembrando-se da carga. — As mulas estouraram? — Sossegue, só correu uma, mas já acharam ela, ali de junto da quixabeira. Era vosmecê que estava fazendo o carreto com essa tropinha e aí eles... — Foi, foi. Mas vosmecê me desculpe, estou muito agradecido por esta salvação, mas vosmecês, ainda que me seja desculpada a ignorância, vosmecês não são do povo do Bom Jesus Conselheiro, são? — Não. Só de certa maneira. Nós não somos do povo dele, mas estamos do lado dele. — Contra a República? — Não, contra a tirania e a injustiça em primeiro lugar. Filomeno achou a resposta do homem esquisita, nunca tinha ouvido nada assim. Eram cangaceiros? Mais ou menos, disse o homem, mais ou menos. Filomeno quis fazer outra pergunta, mas o homem lhe acenou como se estivesse pedindo licença para sair e caminhou na direção dos outros. Agora podia ver que nem todos os soldados tinham morrido na emboscada. A maioria sim, mas haviam sobrado uns três, além dos dois graduados, que agora estavam cercados pelos estranhos combatentes aparecidos do nada. A cabeça esquentou, correu para lá, quase dá um encontrão no homem de cabelo lãzudo, que supervisionava a amarração dos oficiais. — Vão enforcar? — perguntou, quando viu as cordas. — Não — respondeu o homem. — Pelo menos agora não. — Vão sangrar? — Não, não, vamos deixar que eles fiquem assim mesmo como estão, só vamos resolver depois. — Esse daí mandou matar Caruá, o menino que vinha comigo, um menino que não podia ter mais do que catorze anos. Não sei nem se foi ele mesmo que matou em pessoa, eu estava amarrado de costas. Cachorro! Criatura do Cão! — Tenha calma, ele está preso, não vai mais matar menino nenhum, não vai mais matar ninguém, tenha calma. — Eu só ia dar um tabefe nele, ele me deu um tabefe quando estavam me segurando, quando me pegaram. E também me deram de pontapé, nem sei direito se esse daí ou se o outro. — Ah, vosmecê quer dar umas porradas neles? — Era. Umas duas, coisa pouca, só por desconto mesmo, coisa ligeira. — Lourenço! — Pode dizer. — Este companheiro aqui tem razão justificada para dar umas porradas nos dois macacos estrelados aí. Prepare os dois macacos para tomar umas porradas. É com a mão mesmo, mestre? — Não é assim que se trata um prisioneiro de guerra! — gritou o comandante do piquete. — Guerra agora, que é você que está amarrado aí. Quando é um de nós que está amarrado, não é guerra, é expedição punitiva. Cale a boca, macaco, antes que eu mande
pendurar você pelo dedão do pé e mande lhe dar uma surra de mandacaru florido. É com a mão mesmo, mestre? — É, sim senhor — disse Filomeno. — Pode ser agora? — Somente um instante — respondeu o de cabelo cacheado, voltando-se para o oficial. — O senhor, senhor tenente, vai tomar uns tabefes em nome do povo que o senhor veio para matar. Muito bem, mestre, desfrute do desconto. — Vosmecê podia levantar o fifó aqui, que é para eu acertar bem no mesmo lugar onde ele me acertou? — Levante o fifó aí, Lourenço. — Agradecido. — Não por isso. A luz se refletiu no rosto molhado de suor do tenente, que tentava ostentar um ar de coragem e desdém, mas não conseguia que os lábios parassem de tremer. Filomeno levantou a mão, mas antes quis insultá-lo, dizer-lhe alguma coisa que o ofendesse, descontar isso também. Não atinou, porém, com o que falar, achou que suas línguas eram diferentes, embora ele entendesse os insultos do oficial, o oficial era quem não entendia os dele. Levantou mais o braço, bateu com a mão espalmada, levando no golpe o peso de todo o corpo. O oficial deu um gemido, ergueu o rosto deslocado pela pancada com uma expressão que pretendeu de desafio, mas não conseguiu controlar os músculos e voltou a ficar de cabeça pendida. Filomeno fez menção de dar-lhe outro tapa, mas terminou por virar-lhe as costas para voltar. Na passagem, encarou o outro graduado, pensou em bater-lhe também, resolveu apenas cuspir. — Já acabou? — perguntou o homem do cabelo cacheado. — Já, já. — Foi ligeiro. — É, na hora eu peguei enjoo, não gosto de bater em homem amarrado, não dá graça. — Eu sei como é, eu também não. — Mas vosmecês não vão sangrar eles mesmo, não? É verdade? Que serventia pode ter uma desgraça dessas? — Ainda não sabemos. Nós temos uma prática aqui. Antes de fazer qualquer coisa, nós primeiro pensamos no assunto. — Pensa como? Que é que tem para pensar? O homem sorriu para ele, pediu-lhe que tivesse calma, já saberia das respostas para todas as suas perguntas. Pôs-lhe a mão no ombro, indicou um caminho à frente. Disse-lhe que sabia que levava armas para o arraial, não se preocupasse, poderia completar a missão logo de manhã cedo, as tropas ainda estavam se agrupando no Angico, não atacariam o arraial antes do dia 3 ou 4. Por enquanto, podiam ir descansar no acampamento armado ali perto, o companheiro tinha apanhado muito, não tinha? Precisava de um descanso, precisava comer um pouco e, além disso, não queria saber as respostas daquelas perguntas todas? Filomeno pensou em recusar, em fazer mais perguntas, em exigir que lhe contassem quem eram, mas afinal eles realmente o tinham salvo junto com a carga e estava mesmo machucado, cansado e faminto. — Vamos, vamos — disse. — Vosmecê tem razão. — Está podendo caminhar bem?
— Estou, pode deixar. Mas não tiveram de andar muito, porque logo chegaram ao acampamento, escondido numa espécie de grotão que Filomeno, apesar de ter passado pelas redondezas muitas vezes, não conhecia. Ao lado de duas enormes rochas que, encostadas, formavam uma arcada com um vão triangular no centro, tinham sido levantadas três tendas espaçosas, barracas de um tipo que Filomeno tampouco conhecia. No centro, uma fogueirinha, com uma chaleira pendurada numa trempe de madeira. Em dois ou três pontos, lanternas de campanha acesas, parecidas com as dos soldados. Muitos homens circulando, algumas mulheres, um ambiente calmo como um rancho de caça depois do trabalho. Do lado de uma das tendas, chegou cheiro de fritura ao nariz de Filomeno, que olhou interrogativamente para os outros. O homem de cabelo branco sorriu, apontou com o queixo na direção da comida e foram juntos, encontrando um fogão de pedras, onde um preto gordo mexia nas panelas. — Tem jabá, tem feijão, tem cágado, tem farinha, tem até uns restos dos pebas de ensopado — disse o preto, com uma alegria que chegava a parecer fora de propósito. — Tem doce de banana! Filomeno se acocorou para comer com os outros, ficou meio tonto quando os primeiros bocados quentes lhe chegaram ao estômago. Do outro lado, podia ver os soldados sendo amarrados a um umbuzeiro esgalhado, em companhia de seus chefes. Quatro ou cinco vultos armados de espingardas e facões se postaram por perto montando guarda e, a não ser por isso, o lugar era um terreiro de fazenda, um terreiro plácido e sossegado, onde só faltavam umas miunças ciscando para Filomeno achar que o tinham transportado para muito distante daqueles sertões dali. De barulho, somente o dos pratos de folha de flandres, a mastigação dos homens abaixados, os grilos cantando, uma acha de lenha pipocando na fogueira de quando em vez. Filomeno pensou novamente em conversar, em fazer perguntas, mas decidiu que esperaria, alguma coisa haveria de acontecer. Bastante mais tarde, chupando um pedaço de rapadura puxa, foi convidado a ir com os outros para o vão entre as rochas, que, visto por dentro, era muito maior do que parecia à primeira vista. Formava uma espécie de salão de teto altíssimo, iluminado por candeeiros fixados às paredes de pedra. No chão, varrido ao ponto de parecer cimentado, dois bancos compridos, constituídos cada um de uma tábua longa sobre quatro cavaletes baixos, alguns tamboretes de assentos de couro cru, duas ou três esteiras, uma arca encostada a um canto, coberta por uma colcha de retalhos. As chamas dos candeeiros, cuja fumaça subia e desaparecia como se, mais longe do que a vista alcançava, pelo meio das reentrâncias do teto, houvesse uma chaminé, iluminavam tudo com muita clareza, com exceção do canto mais afastado da entrada que, de tão escuro, parecia protegido por um anteparo qualquer, um negrume sólido e opaco. Filomeno olhou para esse canto, intrigado porque a luz parecia deterse antes de chegar a ele, mas não teve tempo de pensar muito no assunto, pois era evidente que ia realizar-se qualquer coisa de solene, talvez a decisão sobre o destino dos prisioneiros. Mesmo porque os seis soldados, dois graduados e quatro praças, amarrados um ao outro como uma fieira de peixes, estavam sentados num dos bancos, o oficial sacudindo os joelhos sem parar, apesar de atado pelos tornozelos. Depois que todos os recém-chegados se instalaram, alguns no outro banco, de cara
para os prisioneiros, alguns nos tamboretes e no chão, o amigo de Filomeno levantou-se e lhes falou quase sem alterar o tom de voz, como se estivesse apenas fazendo uma comunicação casual. — Os senhores foram aprisionados como membros de uma expedição inimiga do povo desta terra, vinda aqui para destruir e matar. O certo seria também matá-los imediatamente, porque é assim a lógica dessas coisas. Contudo, matar por matar, mesmo que haja um motivo de vingança, não faz parte da nossa prática. O senhor — falou, apontando o comandante — já é responsável pelo assassinato de uma criança e, como tal, culpado, da mesma forma, aliás, que todos os seus cúmplices. — Protesto! — disse o oficial, tentando levantar-se sem conseguir. — Isto é um ato de banditismo contra as instituições republicanas, a integridade da Nação, o poder constituído! Apenas para que as coisas fiquem claras e não porque eu dê alguma importância ao julgamento de tabaréus fanáticos, ignorantes e analfabetos, é necessário que eu me identifique. Eu sou o Tenente... — Cale a boca! Aqui não interessa o que o senhor pensa, porque tudo o que o senhor pensa, ou pensa que pensa, é o que lhe puseram na boca e na cabeça, e isso já conhecemos. Também não interessa a sua identidade, pois que sua identidade é uma coisa que só vale para o senhor, para nós o senhor não tem identidade, tem a mesma identidade que os outros que vieram em sua companhia. Da mesma forma que, para o senhor, nós também não temos identidade, não temos cara, temos uma cara só. Também não interessa o que o senhor diga ou possa dizer a respeito do julgamento que fazemos de suas ações, pois o único julgamento que lhe interessa é o que fizerem de acordo com sua medida. Seu poder constituído para mim é merda, suas instituições para mim são bosta. Vocês chamam dinheiro de verba ou numerário, chamam furto de apropriação, nomeação de eleição, assassinato de execução, vocês se vestem fantasiados e usam palavras que julgam bonitas, assim concluindo que seus atos são legítimos. Podem ser legítimos para vocês, mas não para nós, que nunca fomos nem ouvidos nem cheirados e temos de aceitar o que vocês resolvem por nós e até o que vocês pensam por nós. Então, porque aquele que condena um homem à fome e à miséria tem um papel na mão, isso se torna menos imoral, se torna certo de alguma forma? Vocês vêm nos dizer verdades. Que verdade é essa, que nos humilha, nos diminui, nos transforma em nada, como pode ser isso verdade para nós? Para mim vocês são a encarnação da mentira e da morte. Mas, assim mesmo, é nossa prática que possam falar em sua defesa. Contudo, falem em sua defesa e não para nos atacar, porque lhe faço calar a boca outra vez, aqui não temos necessidade das palhaçadas de sua justiça, que arma grandes pantomimas para mascarar o que toda a gente já sabe que fará: punir o pobre e premiar o rico. Portanto, a finalidade de deixar vocês falarem, se quiserem, não é que acreditemos que, falando, vocês deixarão de ser os patifes, traidores do povo, que são. Mas é que podem dizer alguma coisa que nos interesse. Falem, se quiserem. O oficial fez nova menção de levantar-se, outra vez as cordas o detiveram. — Não vão consentir que eu me levante para falar? — Não, fale sentado mesmo. — Bem, sei que é inútil falar e, se não fosse pelos meus comandados aqui presentes, pelos quais sou responsável, eu não falaria nada. Com exceção do senhor aí, que eu não sei quem é, não creio que nenhum dos outros possa compreender minhas palavras. Estamos aqui
em missão oficial, com o objetivo de reprimir uma rebelião contra a integridade da República. A República, uma conquista do povo brasileiro, não pode permitir que a desafiem impunemente. Os senhores não devem fidelidade à Coroa de Bragança, como desobedientemente, sediciosamente professam, violando a lei e afrontando a autoridade. Os senhores... — Não devemos nada a ninguém, todos nos devem! — disse uma voz de mulher vinda do canto escuro do salão. Filomeno sobressaltou-se, ergueu o corpo no tamborete, olhou para o ponto de onde saíram aquelas palavras, não viu nada além do mesmo negrume espesso de antes. Mas à medida que a mulher continuava a falar, sua voz clara enchendo o salão, o rosto dele se acendeu em maravilhado espanto, pois, como se uma luz alva brotasse do chão e das paredes, naquele ponto antes coberto pela treva começou a formar-se a figura de uma mulher muito alta, cabelos pretos soltos sobre os ombros, um bastão de madeira na mão direita e grandes olhos, inicialmente envoltos na mesma bruma que o rosto, iluminando-se de um verde intenso em que a luz ricocheteava. O rosto, talhado em linhas firmes, não parecia ter idade. Não era jovem, não era velha, via-se apenas que tinha vivido muito. Filomeno achou que estava assistindo a um milagre, uma aparição de santa, quis cair de joelhos, mas o homem a seu lado o segurou pelo ombro. — Deixe estar — disse. — É D. Maria da Fé. — É quem? D. Maria da Fé? Ela mesma? — Ela mesma. Ela estava ali o tempo todo. — Por Jesus Crucificado! — exclamou Filomeno, arregalando os olhos, enquanto a mulher se encostava num tamborete alto, mantendo um dos pés no chão e o outro numa das travessas. — O povo brasileiro não deve nada a ninguém, tenente — disse ela. — Ao povo é que devem, sempre deveram, querem continuar sempre devendo. O senhor papagaia as mentiras que ouve, porque não interessa aos poderosos saber da verdade, mas apenas do que lhes convém. O senhor diz que somos monarquistas, leais à Coroa de Bragança. E eu lhe digo que compete à Coroa ser leal aos súditos e não os súditos à Coroa, assim como compete à República ser leal aos cidadãos e não a ela mesma. Como queria o senhor que um povo conservado na mais funda ignorância pudesse compreender que não é a República a responsável por tudo de mau que lhe vem acontecendo? Se tudo piora, se a miséria aumenta, se a opressão se faz sempre mais insuportável, se a fome e a falta de terras são o destino de cada dia, enquanto os senhores salvam a Nação na capital, escrevendo leis para favorecer a quem sempre foi favorecido? Se nada deve o povo à Monarquia, menos ainda deve à República. Que nos dá a República? Dá-nos mais pobreza. Que nos manda a República? Manda seu Exército para nos matar. Se não nos rebelássemos, que nos mandaria? Mandaria a fome e o esbulho para nos matar. Hoje há mais ódio contra nós do que jamais houve contra qualquer inimigo de fora. E são vocês o povo, os donos do país? Não. Somos nós. E, no entanto, é contra nós que se vira a força do país, é contra nós que se vira o ódio, como era contra os escravos que se virava o ódio e a força do país. — O Governo não pode dar satisfações a qualquer ralé que pretenda violar o
princípio da autoridade! — Da autoridade? Quem lhes deu autoridade? De onde tiraram sua autoridade? O que foi que mudou depois da República, que progresso houve, que horizonte se abriu para o povo? O que é que vocês sabem, além de matar, espezinhar, humilhar e negar a liberdade e a justiça? Quem jamais nos perguntou alguma coisa? Quem quis saber o que sofríamos, o que sonhávamos, o que desejávamos do mundo, o que podíamos e queríamos dar? Ninguém nos perguntou nada, até o dom da linguagem vocês querem nos tomar, pela ignorância e pela tirania da fala que empregam, e que é a única que consideram correta, embora não sirva senão para disfarçar a mentira com guisas de verdade e ocultar o nosso espírito. — Se reconhece a ignorância de seu povo, então reconhece que aqueles que não são ignorantes têm o dever de conduzir o resto. — E vocês não se acham ignorantes? Você sabe tecer o tecido que o veste? Sabe curtir, tratar e coser o couro que o calça? Sabe criar, matar e cozinhar o boi que o alimenta? Sabe forjar o ferro de que é feita sua arma? A sua ignorância é maior do que a nossa. Vocês não sabem o que é bom para nós, não sabem nem o que é bom para vocês. Vocês não sabem de nós. Chegará talvez o dia em que um de nós lhes parecerá mais estrangeiro do que qualquer dos estrangeiros a quem vocês dedicam vassalagem. O povo brasileiro somos nós, nós é que somos vocês, vocês não são nada sem nós. Vocês não podem nos ensinar nada, porque não querem ensinar, pois todo ensino requer que quem ensine também aprenda e vocês não querem aprender, vocês querem impor, vocês querem moldar, vocês só querem dominar. — Isto não faz sentido, é um apanhado de absurdos, é... — Isto é a única coisa que faz sentido, é ver a nós mesmos como devemos nos ver e não como vocês querem que nos vejamos. E ver vocês como devemos ver e não como vocês querem que os vejamos. A História de vocês sempre foi de guerra contra o próprio povo de sua nação e aqui mesmo estão agora comandados por um que se celebrizou por mandar fuzilar brasileiros e por ser um assassino. E agora vêm falar de sua República? Por que não nos falam de comida, de terra, de liberdade? Por que, enquanto hipocritamente libertam os negros, porque não mais precisam deles, criam novos escravos, ajudam a transformar seu país na terra de um povo humilhado e sem voz? Sua República é um novo embuste, dos muitos que nos perpetraram e perpetrarão, pois não tenho ilusões sobre quem terminará vencendo esta guerra civil de Canudos. — Guerra civil? Mas que guerra civil? — Guerra civil! Mas esta guerra civil não terminará aqui, com a derrota nesta batalha, esta guerra civil continuará pelos tempos afora, assumirá muitas caras e nunca deixará de assombrar vocês, até que cesse de existir um país que em vez de governantes tem donos, em vez de povo tem escravos, em vez de orgulho tem vergonha. O poder do povo existe, ele persistirá. Ele também tem seus heróis, que vocês não conhecem, os verdadeiros heróis, porque heróis da vida, enquanto os seus são heróis da morte. Aqui neste sertão, morrerão muitos desses heróis, mas o povo não morrerá, porque é impossível que o povo morra e é impossível que o povo seja sempre abafado. Vocês são traidores do seu povo e assim deveriam morrer. E vão morrer, porque ainda não será esta expedição que esmagará o povo de Canudos. O ódio que vocês têm ao povo terá que manifestar-se em toda a sua crueldade e, podem crer, o martírio desse povo poderá ser esquecido, poderá não ser entendido, poderá
ser soterrado debaixo das mentiras que vocês inventam para proveito próprio, mas esse martírio um dia mostrará que não foi em vão. Terão de matar um por um, destruir casa por casa, não deixar pedra sobre pedra. E mesmo assim não ganharão a guerra. Só o povo brasileiro ganhará a guerra. Viva o povo brasileiro! Viva nós! Ergueu o bastão para o alto, os homens se levantaram e Filomeno, sem pensar, se viu repetindo com eles a saudação que ela tinha feito. Tampouco compreendeu o orgulho esquisito que sentiu ao ouvir aquelas palavras, como se elas já estivessem dentro dele durante toda sua vida e somente agora houvessem tomado forma. Olhou para os soldados, achou que eles estavam diferentes, muito diferentes do que quando os encarara da primeira vez. Mas preferiu, em vez deles, olhar para Maria da Fé, agora tão perto que poderia tocá-la, enquanto ela conversava com seus homens e, não dando ordens, mas falando como quem expressava uma opinião, disse que deveriam soltar os soldados, sem armas, para que voltassem a seu acampamento. Melhor que simplesmente matá-los, era devolvê-los para a derrota de sua expedição, depois de terem visto e ouvido o que ali viram e ouviram. — Se nós os matarmos — disse ela com um sorriso —, eles saberão que nós existimos, mas esse conhecimento não passará deles. Se não os matarmos, eles pelo menos nunca terão certeza de que eu não existo, porque eles sempre querem pensar que eu não existo. Filomeno não compreendeu o que ela disse, mas riu também, realmente devia haver alguma coisa engraçada naquilo. — Não é não, companheiro? — disse ela afetuosamente, batendo-lhe no ombro. — Agora vamos descansar. Antes da meia-noite, soltamos esses daí nos matos, amanhã tu levas tuas mulas para o arraial. Boa-noite, companheiro. Filomeno Cabrito, antes de dormir, imaginou que estava sonhando, beliscou-se e demorou a cair no sono. E continuou a imaginar que sonhava, quando acordou no dia seguinte na companhia de suas mulas, no acampamento absolutamente deserto, como se nunca houvesse estado pessoa alguma ali. Mas havia estado gente ali — lembrou-se ele, coçando a cabeça enquanto descia a trilha para Canudos ao lado da mula Periquita —, pelo menos ele nunca ia esquecer a visão de Maria da Fé e o olhar amigo do homem de cabelo branco que, antes de se recolher, lhe deu um abraço de despedida e disse que se chamava Zé Popó.
18
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1897.
Apesar da expressão carrancuda com que retribuía os cumprimentos dos vizinhos que passavam pelo seu portão de volta da missa, o general Patrício Macário não estava tendo pensamentos sérios. Examinava mais uma vez o impulso, que o acompanhara durante toda a vida mas nunca com tanta frequência quanto nos últimos anos, de fazer uma repentina maluquice em público, como por exemplo assanhar o cabelo e, quando uma daquelas senhoras endomingadas lhe desse bom-dia, esticar meio palmo de língua para fora, arregalar os olhos e abanar as mãos com os polegares enfiados nas orelhas. Achou a ideia engraçadíssima, quase irresistível. Será que um dia cederia mesmo a um impulso desses, será que estava ficando realmente doido e não apenas pensando numa loucurazinha ou outra? Havia também os sonhos, de certa forma aparentados com esses momentos de sandice, nos quais aparecia completamente nu, em ocasiões solenes ou comandando tropas. Ao se iniciarem, esses sonhos eram agradáveis, mas, à medida que se desenrolavam, viravam pesadelos de que acordava aliviado. Sim, talvez estivesse ficando maluco — e daí? Levantando as calças frouxas que usava para mexer no jardim e no quintal, virou as costas para o portão e resolveu que mais tarde cuidaria das plantas da frente da casa, quando terminasse aquele vaivém lá fora, que o obrigava a cumprimentar gente estranha e se achar mais à beira da loucura do que de costume. Aliás, era teimosia dele, pois já sabia que isso ocorreria e insistia em não mudar sua rotina: acordar às cinco, lavar-se, vestir-se, ir para o quintal ver as galinhas, passar com elas mais de uma hora, inspecionar os outros bichos, entrar em casa pela porta do lado, tomar café lendo o jornal, acender um cachimbo, fumar e ler durante uma meia hora e então começar a jardinagem, pelas plantas da frente. Esse era o problema; nos domingos não tinha de começar por ali, tinha de terminar por ali. Resmungou irritado, um absurdo que o sujeito tenha de mudar hábitos sólidos e racionais por causa dos outros. Além disso, naquela hora Adalícia estaria no quintal e puxaria conversa, mesmo que ele não respondesse nada ou até lhe ordenasse aos berros que calasse a boca. Engraçado que tivessem querido que ele se casasse, se Adalícia, com exceção da cama, cumpria todas as funções de uma esposa, desde cuidar da casa abominavelmente até saturar-lhe a paciência com uma tagarelice impossível de estancar, que o perseguia até que se trancasse a sete chaves no gabinete, porque ela, quando não tinha o que falar, conversava com tudo em torno, mesmo com panelas e bichos. Coisa que, aliás, estava justamente fazendo no fundo do quintal. Matraqueava animadamente com as amoreiras, enquanto estendia no varal a roupa branca lavada. Ah não, não havia como suportar aquilo, e ele deu meia-volta para entrar em casa, pisando leve a fim de evitar que ela percebesse sua passagem. Acordara até bem, sentia-se mesmo muito bem, situação bastante inesperada para quem fora dormir abatido e irritado, como, aliás, passara toda a semana. Ou, pensando bem,
passava agora a maior parte do tempo. Caturrices de velho, certamente era o que comentavam. Podia ser, podia ser também a tal maluquice. Mas nada disso impedia que ele soubesse das raízes mais fundas de seu desgosto. Claro que a desilusão com a carreira, agravada por não ser uma desilusão com a profissão, devia ter influência em seu estado de espírito. Ver gente como Vieira chegar aos postos mais altos e receber honrarias de toda espécie, testemunhar covardia, duplicidade, corrupção e venalidade impunes, recompensadas mesmo, assistir às dificuldades dos bons e às vitórias dos maus, tudo isso o deixava triste, enraivado, impotente, rancoroso. E talvez fosse ainda cedo, como lhe diziam alguns dos pouquíssimos amigos que conservava, para avaliar o que a República trouxera de benéfico para o país. Sim, talvez fosse cedo, mas para ele as coisas tinham cada vez mais a forma enxergada e mostrada por Maria da Fé. Como acontecera na companhia dela, fazia tantos anos, ainda não conseguia juntar todas as peças de um quadro cuja existência era, apesar disto, inquestionável. De fato, como ia ter fé no progresso e na ciência, ter fé nos técnicos e nos especialistas que, teoricamente, orientariam e dirigiriam o país, se os critérios e objetivos eram sempre traçados pelos interesses de alguns? Até quando perduraria isso? Até que perdessem o poder — e algum dia o perderiam? Como era isso possível? Mas era possível, ele sabia da existência do povo, sabia do trabalho e do sofrimento da maioria e agora sabia também como tudo se resolvia do alto, sem que aquela maioria fosse levada em conta. O Exército continuava servindo de instrumento repressor aqui e ali, a pretexto de manter a unidade do país, quando, na verdade, estava sendo usado para garantir o poder de facções políticas que não passavam de aparências diversas da mesma coisa, em seus jogos de confronto e equilíbrio. E agora, depois de uma histeria nunca vista, contra os chamados fanáticos monarquistas do sertão, chegava-se ao final da Campanha de Canudos, destruído como os romanos destruíram Cartago, casa por casa, pedra por pedra, vida por vida. Por que, por que tinha de acontecer assim, que coisa mais inútil e mais estúpida! Monarquistas! Sim, talvez por ignorância, eles podiam dizer-se monarquistas. Mas na verdade eram brasileiros pobres, mantidos na miséria e na vida servil, brasileiros tornados estrangeiros para os que, nas cidades, bradavam pelo seu extermínio e os odiavam e temiam como se odeia e teme o diabo. Agora, morte; e mais morte viria, tinha certeza, porque o poder continuaria a esmagar e os esmagados, inevitavelmente, a levantar-se. Estremeceu. Essas tinham sido as palavras dela, uma vez, na Ponta de Nossa Senhora. Onde estaria ela, estaria viva? Ela mesma dissera que um dia ele também duvidaria de sua existência. Mas não duvidava, sabia dela, sentia muitas vezes sua presença, às vezes até com raiva, porque, ao tempo em que a amava, ressentia-se dela por havê-lo condenado à solidão, solidão esta com que só recentemente se acostumara de todo, apesar de pensarem o contrário. Como ia cair no ridículo de explicar que não queria saber de ligação duradoura com mulher nenhuma porque, depois que a conhecera, mulher nenhuma tinha graça, considerava-se casado com ela? As histórias sobre ela ainda corriam e de vez em quando uma lhe chegava, que ele ouvia afetando um interesse divertido e o mesmo ceticismo que os outros. Eram lendas, afinal, histórias de um povo que não tem o que fazer e vive na fantasia. Não sabia por quê, achava que ela tinha estado em Canudos. Talvez porque se comentava que ela havia entrado pelos sertões, talvez porque qualquer coisa lhe dizia isto, qualquer coisa esquisita na ânsia com que lia e ouvia as notícias da campanha, ânsia esta que
não podia ser somente pela tragédia que estava acontecendo. Bobagens, invenções de velho à beira de se tornar sessentão. Ela morrera, sim, certamente morrera; só não morrera, claro, em outro sentido. Neste sentido, era de fato imortal, como, tão linda com seus cabelos soltos e sua voz de prata, lhe falara. Não ia morrer, não morreria nunca, pois o espírito de sua luta continuaria com o povo, apesar de todas as dificuldades, disso ela tinha certeza, tanta certeza quanto a que tinha do amor deles dois. E havia também a Irmandade. Havia mesmo a Irmandade? Ela própria fora um pouco vaga quando falara na Irmandade, era como uma coisa que existisse e não existisse. Será que tudo na vida era assim, tudo existia e não existia? Aquele que pertence à Irmandade é o primeiro a saber — ela tinha dito também. E muitas vezes ele achara que sabia, mas também achara que aquilo era parte da tal loucura, a qual não podia cultivar. Como ter certeza? Sentia saudades dela, esta é que era a única verdade, sentia saudades como se tudo tivesse acontecido ontem. Diabo, voltava a velha melancolia, essa bendita Irmandade devia existir mesmo, para que não se sentisse tão sozinho, com tantas coisas na cabeça. O pior era isso, sentir-se sozinho com tantas coisas na cabeça, coisas que precisava dizer, precisava mostrar, precisava provar, mas não sabia como, não via como. Desgraça de vida inútil, vida absurda. Fazer o quê, conspirar, discursar, escrever? Tudo isso já fizera, nada disso mudara coisa alguma, antes contribuíra para que ficasse ainda mais desanimado. Mesmo os sujeitos mais idealistas e puros — raros, raríssimos — não viam além de certo ponto, não passavam de limites estreitos de que nem mesmo tinham consciência. Tudo inútil, tudo uma frustração perpétua, tudo uma solidão inexpugnável. E, no entanto, escrevia. Ninguém sabia, mas ele escrevia. A tristeza que voltara depois do breve intervalo no jardim não foi embora, mas lhe veio entremeada uma alegria reconfortante como a de alguém que encontra um brinquedo velho em que renova o interesse, quando, chegado ao gabinete, tirou da gaveta as duas grossas pilhas de papel almaço que já continham mais da metade de seu livro de memórias. Começara a escrever havia tanto tempo que as primeiras folhas estavam fouveiras e esgarçadas, a tinta esmaecida quase invisível à luz que entrava pela janelinha do gabinete. Caminhou até o outro lado, abriu a janela maior, sopesou o primeiro volume, como se admirado de haver podido escrever tudo aquilo. Mas havia, e não desistiria de completar o trabalho, embora não tivesse certeza de que o publicaria em vida. De qualquer forma, se o fizesse, estava seguro de que tentariam matá-lo, prendê-lo ou interditá-lo, ou ainda as três coisas juntas. Pois, num processo inicialmente difícil e recalcitrante, mas depois cada vez mais fácil, conseguira depurar de tal maneira o estilo e a linguagem, que se orgulhava de não haver um só eufemismo no que contava. Quem era ladrão era chamado de ladrão, quem era burro era chamado de burro, quem era pusilânime era chamado de pusilânime. A parte referente à Campanha do Paraguai, por ser tão diferente da mentiralhada oficial e dos relatos dos historiadores panegiriqueiros que eram a regra geral, ia com certeza ser contestada palavra por palavra. E, o que era pior, o mentiroso terminaria por ser ele. Mas isto não lhe tirava a alegria de escrever e de antecipar vagamente ver aquilo tudo publicado. Temia somente que, mesmo custeando ele próprio a edição, não consentissem que ela circulasse. A ideia de transformar tudo num romance sob pseudônimo ainda não lhe tinha
saído inteiramente da cabeça, embora as duas ou três tentativas que fizera o tivessem praticamente convencido de que não conseguiria. Além disso, não queria que nada do que estava contando fosse tomado por mera invenção, produto da imaginação de um escritor desconhecido e sem importância. Bem, mas não adiantava ficar pensando nessas coisas, o importante era escrever. Preparando-se para esquecer tudo, até mesmo o jardim, apanhou as últimas folhas e começou, com enorme prazer, a revê-las de lápis em punho, vez por outra recitando uma frase em voz alta. Não ouviu quando o sininho do portão tocou repetidamente e um vozerio de crianças e mulheres tomou conta do jardim. Somente quando General e Marechal, os dois cachorrinhos, começaram a latir e ganir de assanhamento, enquanto Adalícia, num discurso estridente, ameaçava prendê-los, foi que percebeu que havia chegado alguém. Alguém não, muita gente, quem diabo seria? Pensou em passar a chave na porta e fingir que estava dormindo até que desistissem, mas, mal tinha depositado os papéis sobre a mesa e começava a abrir a gaveta para metê-los lá dentro, a porta se abriu de supetão e uma senhora jovem, de chapéu florido, vestido estampado, sombrinha rendada e sorriso vivaz, atirou-se a ele com os braços estendidos. — Titio! Que saudade! Oh, que saudade! Deixe-me ver o senhor! Mas está um menino, cada vez mais moço! Mas, sim senhor! E fica trancado aqui como um frade na clausura, onde já se viu? Não basta passar a semana inteira escondido nesta sua toca, tem também de se esconder no domingo, quando todos se divertem? Não, senhor, vamos levantando daí, vamos conversar, há quanto tempo não conversamos? Está de óculos novos? Hum... Ficam-lhe muito bem, estão na moda! E então? Como é? Que me diz? — Como posso dizer alguma coisa — respondeu Patrício Macário, fingindo indignação —, se você fala mais do que sua mãe e Adalícia juntas? — É para compensar, o senhor não fala nunca! — Assim não digo bobagens. Onde você arranjou este chapéu? Parece mais um horto florestal. — O senhor não gostou? Eu acho tão bonitinho, combina tanto comigo, o senhor não acha, não? O José Eulálio gosta. — O José Eulálio é de São Paulo, o gosto dele só pode ser estranho. — Oh, não diga isso, tio, ele casou comigo! — Não estou dizendo que o gosto dele é estranho? Olhou a sobrinha com carinho. Falava demais, sim, e não tinha nada que vir interrompê-lo num momento tão inconveniente, mas era, com toda a certeza, a melhor pessoa da família. Pelo menos do seu ponto de vista, pois, desde o dia em que Bonifácio Odulfo, sem quê nem para quê, o procurara para uma reaproximação, Isabel Regina se afeiçoara a ele e nunca mais deixara de ser sua amiga, daquele jeito estouvado que às vezes o incomodava mas nunca o irritava. Nunca o irritava, não; agradava-o, ainda que não compreendesse por quê. Avaliou o cabelo encaracolado que se via saindo das bordas do chapéu, notou mais uma vez que o nariz dela era um tantinho acachapado e que ela, apesar de ser dessas branquinhas rosadas em que qualquer coisa faz surgir dois círculos encarnados nas bochechas, se parecia com ele. Tomou-lhe as mãos entre as suas, sorriu. — E você, minha filha, como vai? Tudo corre bem? Tem gostado de São Paulo?
— Vou ótima! E de São Paulo não sei quase nada, nem o José Eulálio gosta de ficar por lá, só vai por causa das fazendas. Ele mesmo diz que aquilo lá é e sempre será uma espécie de subúrbio. Mas eu gosto de visitar as fazendas, sempre que posso eu vou. Ultimamente é que não tenho podido ir muito, por causa dos meninos. Ah, eu trouxe os meninos para ver o senhor! Eles gostam muito de vir aqui! — Eles estão aí? Diga ao maiorzinho... Como é o nome do maiorzinho? — Bonifácio Odulfo Neto, titio! Que horror, uma coisa tão fácil de lembrar, o mesmo nome do papai! — Coitadinho, como é que você dá um nome desses ao menino? Deve ser por isso que eu me esqueço. — Para ser sincera, bem que eu quis pôr outro nome nele, o mesmo nome que o vovô. — Amleto Henrique? Você devia estar louca, esse é ainda pior! E, depois, o menino correria o risco de sair ao velho. — Não, não era Amleto, era só Henrique, porque ficava também uma homenagem à mamãe. — Aí podia ser ainda mais grave, o menino podia sair aos dois. — Ih, mas que implicância hoje! — Diga ao Bonifacinho Odulfinho que se afaste de meu galinheiro. Da última vez ele entrou lá e causou uma devastação de que até hoje minhas galinhas não se recuperaram. Tenho a impressão de que ele pensa que as galinhas são cavalos e quer montar nelas. — Ora, titio, vamos ver se ele monta numa de bom jeito, que teremos galinha de cabidela para o almoço. — Não se faça de tola, minhas galinhas não são para comer! — Onde já se viu isto? Toda galinha é para comer. — As minhas não. Não há gente que cria bichos que não se comem? Pois então, pois eu crio galinhas que não se comem, galinhas de estimação. — Que coisa, Tio Tico, quer dizer que... — Olhe essa ousadia, me chamando de Tio Tico, me respeite. Eu sou o general Patrício Macário, compreendeu? Só passei ao generalato com a reforma, mas de qualquer maneira sou general e, se puserem minhas medalhas numa balança com você no outro prato, o prato das medalhas é que afundará. Me respeite, menina! — Sim, senhor, tio general Tico, tico-tico-tico-tico! — Pare com isso, menina, isso me faz cócegas! Aquiete-se aí, fique quieta um minuto, que agitação impressionante! — Ah, titio, eu fico triste de ver o senhor aqui, somente na companhia da Adalícia e das galinhas... — E de Marechal e General, não se esqueça. E dos outros bichos, os passarinhos, as plantas... Quanto a Adalícia, você tem razão, ela é uma espécie de pré-purgatório, talvez para evitar que eu vá diretamente para o inferno. Mas, quanto às galinhas, não, as galinhas são excelente companhia, melhor que a de muitas congregações e academias. Você não entende nada de galinhas, não pode dar palpite nessa área. — Mas o senhor não conversa com as galinhas.
— Claro que converso! — Mas não é uma conversa como a que seria entre o senhor e uma companhia feminina, uma esposa... — Não, não, é muito melhor. As galinhas têm um vocabulário bem mais amplo do que aquelas senhoras que frequentam os salões de D. Henriqueta. E hábitos mais comedidos também. Você sabe que uma vez, depois que eu voltei a frequentar sua casa e sua mãe achou que eu devia não só adquirir cultura musical como uma esposa entre as amigas dela, houve um sarau em que a filha do Barão de Não sei quê, uma viúva horrenda, com os dentes mais falhados do que uma cerca de curral... — Não desconverse, titio, o senhor sempre desconversa quando eu toco nesse assunto. — Mas naturalmente que eu desconverso, já era tempo de você desistir dessa ideia mentecapta de querer que eu me case. Casar-me nesta idade, casar-me para quê? Para perder o sossego e trazer para dentro de casa alguém que estabeleça regras para como devo usar os chinelos, como e quando devo comer, como devo falar, levar-me ao teatro e receber amigas em casa? Jamais! Desista, mude de assunto, prefiro que me fale sobre modas femininas, considero assunto mais interessante. No lugar onde você comprou esse chapéu também vendem regadores? — A tia Titiza não é nenhuma viúva horrenda. E gosta do senhor, mamãe já me disse várias vezes. A tia Titiza ainda é bem bonita, o senhor não pode dizer que ela não é bonita. — Bonita? Uma velhota falastrona de mais de cinquenta anos? — Mais de cinquenta anos, nada, acho que ela ainda não fez quarenta e seis. — Da mesma forma que sua mãe ainda não fez trinta e cinco. Ela já fez trinta, aliás? — O senhor está desconversando de novo. — Não estou desconversando nada. Vou ser até muito direto. Não me submeterei a essa conspiração que você e sua mãe e a tia Titiza e sabe-se lá quem mais vêm armando para me casar. Não me caso absolutamente, muito menos com nenhuma Titiza, nem Totoza, nem Tutuza. — O senhor não tem razão, não há conspiração nenhuma. Isto é ideia minha, quem pensa nisso sou eu. Se não a tia Titiza, por que não... — Chega! Não há hipótese, chega! — Ora, mas que absurdo, um homem ainda tão conservado como o senhor, aqui enfurnado... É isto que o senhor está fazendo? Está escrevendo um livro, titio? Memórias... — Deixe isso aí, não seja abelhuda! É, é isso que eu estou fazendo e é isso que você quer que eu desista de fazer, para ficar aturando uma velha rabugenta dentro de casa. — Não precisa ser uma velha rabugenta. — Toda mulher é rabugenta! — Posso ler? — Hem? Não, passe isso para cá! Ande, passe para cá, isto é uma leitura perigosa. — Mas não é para ser publicado? — Ainda não sei, ande, passe isso para cá. — Ah, só um minutinho, tio, parece tão interessante... — Muito mais interessante do que você pensa. Tão interessante que não sei se quero
que ninguém leia. — Ora, titio, se o senhor não quisesse mesmo que ninguém lesse, não escrevia. — Deixe de ser inteligente, as mulheres não podem ser inteligentes, ficam perigosas demais. — ... a noção de uma aristocracia militar, conceito já por si perigoso, adquire feição mais ameaçadora, se vista à luz da pretendida estabilidade das instituições. As razões são inúmeras e entre elas avulta a de que a distância entre a aristocracia e uma casta privilegiada é muito curta, muito mais curta do que pensam alguns bem-intencionados. A noção de aristocracia envolve necessariamente a noção da existência de “melhores” e termina, também necessariamente, por definir o que é “melhor”, não sendo “melhor”, consequentemente, aquilo que não se enquadre em tais critérios. Mas não serão tais critérios apenas os que corporifiquem os valores e interesses dos membros dessa aristocracia? Tio, o senhor escreve bem! Vou ter de ler outra vez para compreender direito, mas o senhor escreve bem! — Bobagem, quando você leu isto em voz alta, foi que eu vi como está mal escrito. — Mal escrito nada! Está é benzíssimo escrito, isto sim! O que é que vem depois? — Está mal escrito, sim. Eu escrevo com muita dificuldade, veja só quantas emendas. — Ah, nada disso, quase não há emendas. Mas, então, o que é que vem depois? — O que é que vem depois, como? — O que vem depois, o que vem depois! O senhor diz que os militares... — Ah, minha filha querida, não sei o que vem depois, nem faria diferença que soubesse. Isto são coisas que não podem interessar a você, são coisas áridas, delírios de velho. — Não achei, não, achei que deve ser interessante. O senhor está fazendo uma análise do papel dos militares no governo, não está? — É, é verdade, é mais ou menos isso. Você é mesmo inteligente, não será a mim que terá puxado. — Então, o que vem depois? — Você quer mesmo saber? — Se não quisesse, não perguntava. — É porque... Está bem, o que penso, o que eu temo, é algo em que já acreditei, mas não posso acreditar mais. É o governo dos técnicos, dos especialistas, dos sábios, dos tais melhores, enfim. Como eu disse, antigamente eu acreditava que esse seria o melhor governo, tal como Platão o imaginara em sua República, pois, afinal, o que ele próprio chamava de filósofos nada mais eram do que o que hoje chamamos cientistas, eis que a classificação das ciências só viria muito depois. — Como o senhor fala bonito! E vai escrever tudo isso aí? — Vou, vou. Quer dizer, falta-me cultura para certas coisas, há aspectos em que quero tocar e não tenho segurança, pressinto que devia ter melhores informações, precisava de mais alguma base. Mas muito obrigado, de qualquer forma. — Muito obrigado por quê? — Por ter fingido tão graciosamente tantas coisas agradáveis para seu velho tio. A verdade é que você foi a primeira pessoa que pôs os olhos nesses papéis e não estou arrependido, fiquei contente. Talvez você também seja a última pessoa a vê-los e isso me faz
igualmente feliz. — Ih, quanta bobagem! Não fingi nada, o senhor está escrevendo um livro interessante, não pode deixar de ser interessante, considerando a sua experiência e o seu valor. O senhor devia era mostrá-lo a seus amigos. Por que não o mostra ao papai? — Deus me livre, seu pai ficaria escandalizado. Não, senhora, você vai ter que me prometer uma coisa. Promete? — O que é? — Promete? — Prometo. — Você não vai falar nada a ninguém, absolutamente ninguém sobre este livro, é um favor que você faz a seu tio. Promete? — Mas por quê? Não vejo razão. — Prometa, é um favor que você me faz. Vá, prometa. — Prometo solenemente... Um momento! Só prometo se o senhor também me prometer uma coisa. — Não, senhora, isto não vale, isto não se faz. E principalmente se for alguma coisa relacionada com suas ideias sobre casamento para mim. Estou falando sério! — Não, não é nada disso, é muito mais simples. Promete? — Bem, vá lá. Mas reservo-me o direito... — Promessa é promessa. Promete? — Está certo, prometo. — Bem, então prometo primeiro eu. Prometo solenemente não contar a ninguém, nem em sonhos, que meu querido tio Tico está escrevendo um livro, seja de memórias, seja do que lá for. — Ah, perfeito, perfeito, muito obrigado. — Contanto! Contanto que o tio Tico vá hoje almoçar conosco na casa do papai! — Ah, não! Tudo menos isso! Não, absolutamente! Não pretendo sair daqui para nada hoje, peça qualquer outra coisa, mas isso não. — O senhor prometeu! — Eu disse que me reservaria o direito de recusar certas promessas. — O senhor não disse nada disso! — Não disse porque você não deixou, mas ia dizer. Não, peça outra coisa, qualquer outra coisa. — O papai não anda muito bem de saúde, faria tão bem a ele ver o senhor... — Deixe de ser mentirosa, ele é a cópia do velho Amleto, que sempre piorava de qualquer coisa que estivesse sentindo, quando eu aparecia. — Que injustiça, isto não é verdade. O papai gosta tanto do senhor, vive lamentando que não se vejam mais. — Mentira dele, então. Ele sempre me achou a vergonha da família. No que talvez tenha razão, mas... — Deixe de ser tão caturra, que coisa! Não sei por que será tão grande sacrifício para o general Patrício Macário ir ao almoço em casa do irmão, para rever os parentes e lembrar
que tem uma família, para esfriar a cabeça tão ocupada com esse trabalho. — Você acha que lembrar a família me esfria a cabeça? Muito menos vê-la! — O tio Clemente André escreveu de Roma, está muito doente. — Verdade? O monsenhor está doente? Que tem ele? — Não sei bem, mas que é grave eu sei. — Que pena, o monsenhor... — Então, titio, estaremos todos lá, o José Eulálio também estará lá, vai estar todo mundo, quantas vezes a família pode reunir-se assim? — Você devia ter nascido homem, seria um extraordinário advogado. — Ainda bem que não nasci, porque senão não ia poder beijar o senhor quando quisesse, assim, assim, assim! Então, pronto? Vamos mudar esta roupa, mas que roupa é essa para um general, meu Deus do céu! Ande, vá mudar de roupa, já devem ser quase nove horas, ou mais, e prometi aos meninos que passearíamos de barco no laguinho. O senhor tem uma vara de pescar? José Eulálio mandou semear peixes no laguinho e agora garante que podemos pescá-los, não vai ser divertido? Ai, titio, se o senhor ficasse assim nas batalhas, teríamos perdido a Guerra do Paraguai, por que fica aí parado, vá mudar de roupa! — A senhora por acaso quer que eu vá de uniforme de gala? — E pode? Está passado? Que bela ideia, uniforme de gala, todo cheio daqueles dourados, as medalhas todas, chapéu de penacho, faixas, espadas, estrelas, tudo! O senhor vai mesmo vestir o uniforme? — Evidente que não, não sou tão desmiolado quanto você. — Que pena! Os meninos iam ficar tão orgulhosos, eles vivem falando que o tio-vovô é um dos maiores heróis do Brasil. — O pior é que não sou. — Claro que é! E, já que não vai todo garboso de uniforme de gala, pelo menos vá o mais dandy possível, hoje é dia de roupa nova. Vá mudar de roupa, titio, já está ficando tarde!
— Você se esquece de que eu sou baiano também — pontificou Bonifácio Odulfo, dando uma paradinha em meio ao passeio que fazia pela biblioteca e levantando o indicador. — Sim, esquece que eu sou baiano também! E, como baiano, conheço aquilo lá tão bem quanto você, senão melhor. Senão melhor! Patrício Macário afundou na poltrona. Não, não ia mais discutir, não ia mais discutir coisa nenhuma, ia deixar que ele falasse o que bem entendesse, ocuparia a mente com qualquer outra coisa. Normalmente isto era fácil, mas Bonifácio Odulfo tinha a mania de encarar fixamente o interlocutor depois de cada frase que considerava de impacto, não dizendo mais nada até que percebesse uma reação qualquer. Se não fosse por esse hábito enervante, podia ser perfeitamente ignorado, enquanto, já mais calmo, iniciava uma conferência para o irmão, o genro e o filho, a respeito do Brasil. Patrício Macário, alguns minutos antes, julgando até que encontraria simpatia, falara em Canudos e ele se levantara enfurecido. Com que então ouvia um militar, cujos irmãos de farda haviam sido dizimados em grandes números por aqueles fanáticos, analfabetos, verdadeiros animais primitivos, inimigos da República, ouvia um militar, um general, lamentar o morticínio dos jagunços? E o morticínio dos soldados?
— Também lamento-o, é claro — respondera Patrício Macário. — Lamento-o principalmente porque o Exército foi mais uma vez levado a combater os próprios brasileiros. Estamos ficando habituados a enfrentar qualquer dissenção dessa forma. — Qualquer dissenção, não! As liberdades constitucionais são garantidas, todos sabem disso. — Que liberdades constitucionais? Que liberdades constitucionais exerce um pobre coitado no Interior, reduzido à mais completa ignorância e miséria, sem acesso à Justiça, sem acesso a coisa nenhuma? — Não seja melodramático, meu caro irmão, não pinte as coisas mais feias do que são. Estamos num país abundante em que o povo, precisamente por isso, cultiva hábitos preguiçosos, não tem iniciativa, vive do que apanha nos matos e nas plantações alheias, o problema é esse. Pergunte aqui ao José Eulálio a diferença entre o nosso trabalhador e o colono estrangeiro, é uma questão de formação, de temperamento nacional, não pode ser objeto de lamúrias de reformadores sociais. E, além disso, você fala como se não fossem inimigos do regime. — Inimigos do regime coisa nenhuma, e este regime tem inimigos? — Não tem inimigos? Você vai dizer que o regime não tem inimigos? Esta é a afirmação mais inacreditável que já ouvi nos últimos anos! — Os inimigos do regime são aqueles que, apesar de economicamente privilegiados, se sentem prejudicados e causam essa brigalhada interesseira e ridícula, que realmente não interessa ao povo, à coletividade. Que benefício trouxe a República ao povo? — Nesse caso, que benefício trazia a Monarquia? — Nenhum. Não se trata de monarquia ou república, trata-se de perceber que não vamos eternamente poder abafar a voz dos despossuídos, oprimidos e injustiçados, que são a grande maioria, através de ações militares. Trata-se de estabelecer um regime que, em lugar de procurar solidificar as vantagens de seus sequazes no poder, procure compreender que o país só poderá ser grande na medida em que não mantiver seu povo marginalizado, escravizado, ignorante e faminto. Isto me parece elementar. Você conhece o desespero, a miséria, a desesperança daquele povo do sertão? Então? Então o que a República faz por eles é enviar-lhes soldados para matá-los, varrê-los da face da terra, é assim que se resolvem as coisas? — No caso, é! No caso é! É assim que se fortalece o regime! — É assim que se enfraquece o regime! — É assim que se fortalece o regime! É assim! Então vamos admitir que degenerados, mestiços sem inteligência, sem firmeza de caráter, sem nenhuma qualidade positiva a não ser seu instintivo amor à vida, vão interferir nos negócios da República? Aonde chegaríamos? — Pelo menos no que se refere à vida deles, deveriam ter o direito de interferir. — E de onde emana esse direito? Que compreensão têm eles desse direito? Que felicidade lhes traria a compreensão desse direito, aliás muitíssimo discutível? — Você fala como se esse povo lhe fosse estrangeiro, como se nem pertencesse à mesma espécie que nós. — E você pode considerar esse povo a mesma coisa que você?
— São seres humanos como nós e são brasileiros. — Haveria quem arguisse contra o chamá-los de humanos, mas vamos dar isso de lambuja, como se diz. Mas você pretende que esse povo seja realmente o nosso povo, seja representativo do nosso povo como um todo? Imaginemos um deputado tabaréu, um embaixador caipira, um senador matuto, que belo papel não fariam, que belo papel não faríamos! É preciso ver as coisas com clareza! No mundo, alguns foram feitos para mandar, a maioria para obedecer, esta é que é a realidade! — Mas mandar pode querer dizer governar honestamente e não oprimir. — Que é que você chama de opressão? Que se pode fazer mais por esse povo? Darlhe banheiros? Continuarão a fazer suas necessidades nos matos! Dar-lhe dinheiro? Gastarão tudo com cachaça e farras! É preciso ver a realidade, é preciso conter a ação de progressistas delirantes como você, para que o país não caia na anarquia e no desgoverno! As poucas conquistas que conseguimos não serão tomadas! Vocês não tomarão nada de nós! Vocês não conseguirão que este país... Um acesso de tosse interrompeu-lhe os gritos e os dois rapazes se levantaram para ajudá-lo. Recusou um copo d’água, encostou-se numa coluna, respirou fundo, enxugou os olhos molhados do esforço da tosse. Patrício Macário, impressionado com a veemência dele, concluiu que falavam em órbitas diversas, de nada ia adiantar discutir. Pensou até em sair para dar uma voltinha pelos jardins antes do almoço e já pretendia levantar-se da poltrona, quando o irmão, com um sorriso nervoso, fez-lhe sinal de que esperasse, como se estivesse prometendo tacitamente que se acalmaria. Pediu desculpas, alegou que esse assunto sempre o exaltava, não sem certa razão, pois era um estudioso dele e às vezes não compreendia que os outros ainda não tivessem, como era natural, chegado a seu nível de compreensão. — Você se esquece de que eu sou baiano também — disse então, inicialmente em tom apenas professoral, mas logo se inflamando de novo, embora não do mesmo jeito que antes. — Sim, esquece que eu sou baiano também! E, como baiano, conheço aquilo lá tão bem quanto você, senão melhor. Senão melhor! Do fundo da poltrona, Patrício Macário tentou evitar o olhar intenso que ele certamente já estava tentando dirigir-lhe, à espera de um comentário sobre o que dissera, mas não adiantaram as manobras evasivas, porque ele veio para diante da poltrona e ficou de braços cruzados, aguardando a reação do outro. — Senão melhor! — repetiu. — Está certo — disse Patrício Macário com enfado. — Certamente melhor. — Você fala em tom irônico, mas é verdade. Tenho fazendas, conheço o interior, lido com agricultura e pecuária. Portanto, sei do que estou falando. — Certo, certo. — Muito me admira você, um republicano tão ardoroso, republicano, se não estou enganado, de primeira hora, que chegou a ser punido algumas vezes por suas atividades, fez inimigos por causa delas, não teve a carreira que podia ter tido por causa delas, um republicano como você agora repudiando suas ideias. — Não estou repudiando minhas ideias, estou apenas desiludido com a República, é simplesmente isto. Não vi mudança alguma para melhor. Até mesmo os velhos servidores da
Monarquia continuam a exercer posições e a ter a mesma influência e prestígio que antes. As eleições são arrumadas previamente, a administração pública é feita por interesse, furta-se como nunca se furtou no mundo, o povo se torna cada dia mais pobre... — Meu querido irmão, você é um utópico, isto é o que você é. Que queria você, que a República subvertesse a ordem natural das coisas? Os homens que estão exercendo influência estão porque são qualificados para isso. Que queria você, que, com a República, passasse a mandar a ralé? Que queria você, que as eleições não refletissem as forças sociais e políticas verdadeiramente significativas para o país e para cada região? São arranjadas porque o eleitorado em si não tem suficiente discernimento para perceber necessidades sociais muitas vezes sutis e, por conseguinte, é necessário que a élite dirigente tome a si a responsabilidade de organizar o poder. Você não conhece nação forte sem governo forte, nação forte em que o povinho, os desqualificados, tenham voz ativa. — A que diabo de povinho você se refere? Para você, todo mundo é povinho, com exceção dos quatro ou cinco gatos pingados que você julga estarem a sua altura. Que povinho? Todos? Porque são todos, realmente todos os brasileiros, a que você se refere com esse desprezo. Eu não quero dizer que seus benditos privilégios devam ser tomados, fiquem com eles, mas veja que para isso não é necessário escravizar o povo, mantê-lo na miséria, na ignorância e na doença. Não está vendo que não pode haver um país decente, um país forte, como você diz, cujo povo seja de escravos, miseráveis, doentes e famintos? — A miséria existe em toda parte! — Isto, em primeiro lugar, não é justificativa. Em segundo lugar não é verdade, pelo menos não tanto quanto aqui. Fomos dos últimos países do mundo a abolir a escravidão e só a abolimos no papel, como você está cansado de saber. Não se pode pensar neste país como propriedade de vocês! E, mesmo que assim o considerem no íntimo, por que o tratam como nenhum fazendeiro trata sua fazenda? Por que não lhe dão nada, só querem receber? Por que o detestam desta forma, têm vergonha dele e de tudo o que se refere a ele, julgam-se europeus desterrados, não suportam nem a língua que falam? Pilhadores, piratas, saqueadores, encaram esta terra como uma coisa que não tem nada a ver com vocês, não querem dar nada, só querem tirar! — Não é verdade! — É verdade, sim! Não são os tabaréus de Canudos que devem ser tidos, como são, na conta de estrangeiros. São vocês, são vocês que são os estrangeiros, os que nunca realmente se conformaram em nascer e viver aqui, são vocês! Vocês pervertem qualquer coisa! A República, um ideal de progresso, prosperidade e justiça, se transformou imediatamente no veículo para vocês ganharem mais dinheiro, mais poder, mais se locupletarem de todas as formas possíveis e imagináveis, ladrões do próprio país, traidores do próprio povo, can... — Meu Deus do céu, como gritam esses homens! Cavalheiros, cavalheiros, eclodiu uma nova guerra? Henriqueta, carregando uma cestinha de frutas e fazendo um biquinho que ela considerava juvenil, apareceu à porta da biblioteca e estacou em horror exagerado, ao surpreender Patrício Macário, muito pálido e com os olhos esgazeados, avançando para o irmão de braço estendido. — Não vão ao pugilato, vão? — perguntou, dando um sorriso nervoso. — Não é justo,
Tico, você está em bem melhores condições físicas e passou a vida inteira usando os músculos, enquanto seu irmão usava a cabeça. Bonifácio Odulfo, andou tossindo muito outra vez? Está bem? Quer que lhe mande ver alguma coisa, um cordial? — Não, não, muito obrigado. Eu já estava desacostumado ao temperamento de meu irmão. Acho que nos exaltamos indevidamente, é uma tolice exaltar-nos assim a troco de nada. — Você insiste em me provocar! — Tem razão, mas não é por provocar, é que acho o diálogo com um homem de sua profissão interessante. — Mas não é diálogo, é pregação. E pregação das mais... Está bem, não sejamos grosseiros, desculpe-me, Henriqueta. — Ora, não há de quê, estou acostumada com a família. Mas, se posso perguntar, qual a razão de tanto arrebatamento, tanta indignação? — Nada, nada. O general e eu estávamos discutindo sobre o povo e tivemos umas divergências, mas está tudo esquecido, não é, Tico? — Discutindo sobre o quê? — Sobre o povo, o povo brasileiro em geral. — Meu Deus do céu, e por causa disso quase chegam às vias de fato? Sobre o povo? Dizem que as mulheres é que são enigmáticas, mas de minha parte, assevero que jamais conseguirei entender os homens. Mas que povo, o povinho mesmo, empregados, amas, caixeiros, operários, lavradores? Já não basta o que temos de aturar deles, ainda temos de brigar por causa deles? — Está bem, Henriqueta, vamos mudar de assunto. — Vamos, sim! Vamos mudar imediatamente de assunto! De assunto e de ambiente, porque eu tenho uma surpresa. Adivinhe quem veio almoçar conosco também! — Não faço ideia. — Era mesmo uma surpresa. Madame Renard! Minha querida amiga Madame Renard! Não é formidável? — Formidável? Sim, é formidável. Onde está ela agora? — Na sala de música, com a Titiza e a Isabel Regina. — Ela vai tocar? Agora? — Meu Deus do céu, não é uma beleza? Vai, sim! Adivinhe o quê! — Não sei, alguma coisa moderna? — Moderníssima. Chopin! Chopin! Uma das maiores vergonhas da minha vida era só conhecer o grande Alexandre Chopin de referências, de leitura, sem jamais ter ouvido sua música, que todos consideram divina. — Não é Frederico Chopin? Eu pensava... — Frederico, sim, eu sempre confundo Alexandre com Frederico, não sei por quê. — Alexandre, o Grande, Frederico, o Grande... — Que argúcia! Mas é claro! Vamos ouvir uma polonaise, foi isso o que ela me disse, uma das famosas polonaises de que tanto todos falam mas ninguém toca! Vamos, então? — Vamos, vamos. A como estamos, hem, ouvindo música antes do almoço! E Chopin! — E Madame Renard! Vamos, vamos logo, é coisa para reis! Assim que ela viu o
nosso piano — eu não lhe disse que um piano alemão valia seu peso em ouro? —, assim que ela viu o piano, sentiu os dedos comichando, foi isto mesmo que me disse. Então, vamos, vamos? São quase dez horas, daqui a pouco teremos de almoçar e as peças não são curtas. Vamos, meu estimado cunhado general? — Vamos, embora mande a honestidade que eu lhe confesse que nunca ouvi falar em Chopin. É francês? — Claro que é, tudo o que vale a pena é francês. Vamos? Não esperou resposta, deu o braço ao marido, tomou o caminho que levava à escada da sala de música. Patrício Macário suspirou. De qualquer forma, era melhor do que ficar ouvindo as diatribes espumantes do irmão. Conhecia a sala de música, sabia da existência de um canto junto à sacada menor de onde se podia contemplar o jardim e o laguinho e, pelo menos, ninguém falaria enquanto a música estivesse tocando. Antigamente não conseguiria esquecer o aborrecimento com tanta facilidade, mas agora constatava, não sem certa melancolia, que a maneira de seu irmão pensar lhe era indiferente, profundamente indiferente. Irritava-o quando se manifestava de forma agressiva ou autoritária, mas era uma irritação que só durava enquanto era diretamente provocada. Talvez fosse melhor assim, pensou com tédio, subindo a escada devagar. Tinha uma vaga ideia sobre quem era essa Madame Renard, uma concertista francesa que viera para uma temporada e decidira ficar, com certeza porque na França não lhe davam importância e no Rio a tratavam como nunca fora tratada na vida. Mas não a achou antipática, quando Henriqueta o apresentou. Apesar de Henriqueta ter falado em francês, ela respondeu em português, apertando-lhe calorosamente a mão. Ficara contente quando soubera que ele era um general e ainda mais um herói de guerra, pois ia tocar exatamente uma peça alusiva ao heroísmo do povo polonês. Logo no começo, ele poderia observar quase que uma descrição de um movimento de tropas. Por conseguinte, dedicaria a execução a ele, era em sua homenagem. Gostava tanto dos brasileiros, um povo tão simples, tão bom... Patrício Macário agradeceu e se de início se preocupou com a homenagem, porque significava que ele teria de prestar atenção à música, logo decidiu que isso não tinha importância. Ficaria na mesma sacada em que planejara ficar, fingiria extraordinário interesse e, no fim, faria um comentário elogioso qualquer. Ia sentar-se quando viu Isabel Regina, que correu para ele. — Titio, pescamos dois peixes! O senhor disse que ia pescar conosco e não apareceu! — Quisera eu ter uma vara agora, mas de marmelo, para mostrar-lhe o que você merece por me ter metido nesta. — Ora, titio, hoje está sendo um dia muito divertido. E Madame Renard é uma grande pianista, vai ser formidável. — Sim, formidável. Já me disseram. Mas o mínimo que você pode fazer para redimirse é cumprir uma missão importantíssima aqui para seu tio. — Sim, senhor general, às suas ordens! — Então marche. Vá lá dentro e, discretamente, me consiga uma licoreira de cachaça e um cálice, traga-os aqui sem que ninguém perceba e deixe-os comigo. — Cachaça? — Deixe de fazer essa cara, eu sei que há cachaça na cozinha. Ande logo, antes que a
música comece! Não tocava mal, Madame Renard. Tocava muito bem, aliás, e Patrício Macário, ao tempo que notava que estava num desses dias em que o álcool sobe logo ao juízo, deslocou a vista da paisagem para acompanhar os movimentos enérgicos da pianista. Muito bonito, realmente. Não era só a cachaça que embriagava, era o ar limpo e fresco que entrava pela sacada e era principalmente a música, que lhe trazia um sentimento de plenitude e liberdade, uma espécie de alegria quieta, de confiança em alguma coisa que não sabia o que era. Sim, liberdade, claro, liberdade que estava à mão e que, por cegueira ou até comodismo mórbido, ele não abraçava. Sim, que estava fazendo no Rio, atanazado, amargurado, enfezado, desenraizado? Estava no Rio porque se habituara a estar, mas não tinha nada para fazer que dependesse da cidade, nada, na realidade, o prendia a ela, apenas o hábito, a rotina a que se acostumara. Lembrou a baía de Todos os Santos, pareceu-lhe que flutuava sobre ela cavalgando a música e pairou sobre os contornos arredondados da ilha de Itaparica, enquanto Madame Renard fazia o piano badalejar como um carrilhão. Resolveu: ia para Itaparica imediatamente, era lá que tudo estava, era lá que tudo de importante havia acontecido, lá estava escondido o conhecimento, somente lá podia ser livre. Ou pelo menos saber se jamais poderia ser livre, pando e livre como estava agora, voando sobre o vasto golfo verde-azul, na companhia de peixes alados e das lembranças mais secretas que um coração pode ter.
Amoreiras, 23 de janeiro de 1898.
Mas que lindo escaldado de baiacu borbulha no caçarolão de barro, minha gente! Filés fumegantes alvos como angélicas, já quase no ponto, cheirando que é uma novidade e por volta uns quiabos de ponta quebrada escolhidos a dedo, coisas de mais de palmo largo, baba forte e decisão no prato; maxixes muitos, alguns jilós, umas bananas-da-terra, duas ou três batatonas doces, diversas fatias de abóbora, tomates em vários estados de madureza, batatasdo-reino, um aipim-rosa, rodela de inhame, repolho, couve e fruta-pão. Tudo de bom, enfim, os melhores triviais de um grande escaldado, temperado no caldinho de limão, na pimenta dedo-de-moça, dentinho de alho, salzinho, cebolinha roxa e coentro como se fora capim, piladinhos juntos. Assim se entende por que Florisvaldo Balão, macho da feiticeira Rita Popó, que vai chegando para almoçar, estaca diante do belo panelão que gorgoleja sobre as brasas e sorve com volúpia o ar salpimentado umedecido pelo vapor do baiacu, reconhecidamente o melhor peixe do mar, iguaria para homenagens e confraternizações, cujo sabor e cuja finura são reputados sem rival. Avaliando o caldo em que alguns quiabos já começam a abrir-se, antecipa o pirão de copioba de primeira, com arte no escaldo e na mistura, fecha os olhos deleitado. Difícil de entender será, talvez, a razão por que, depois de tanto encantar-se, Florisvaldo muda de expressão e, olhando com desconfiança para a panela, benze-se e murmura uma oração forte. É que, sobre ser o melhor peixe do mar, o baiacu é também venenoso, costumando matar com rapidez quem o come sem saber tratá-lo. Felizmente, existe
quem saiba tratá-lo com competência. Basta, por exemplo, remover a pele. Não, não basta remover a pele, a pele não tem veneno, há até gente que come a pele. O problema é o umbigo. O baiacu tem aquele umbiguinho encaroçado e é ali que está o veneno, sendo portanto suficiente, para que não haja perigo, fazer uma cunha na carne polpuda do peixe, bem no lugar do umbigo. É bem verdade que na cabeça é que pode estar a sede da peçonha, de forma que o mais seguro talvez seja jogar as cabeças fora. Claro que é bem possível assistir razão aos que afirmam que o veneno está em todo o peixe, mas o cozimento longo em panela destapada faz com que ele vire fumaça e vá embora. Não, não, a questão é outra, é a lua, pois não passa de rematada loucura comer baiacu na lua cheia, ou senão quarto minguante, quem sabe quarto crescente, talvez na lua nova. Que lua, que nada, o segredo é o mês em que se come o baiacu, não se podendo comê-lo nos meses que não têm a letra rê no nome, ou nos que têm a letra rê no nome, ou ainda na semana santa, ou na Quaresma inteira, ou quinze dias antes e quinze dias depois da véspera de Natal. Comer escaldado de baiacu é por conseguinte uma experiência importante, havendo quem o coma até com regularidade durante anos e anos com apenas uma ou duas mortes na família, não se conhecendo caso de quem tenha morrido de baiacu sem estar acostumado a comer baiacu, porque só come baiacu quem está acostumado, pois quem não está acostumado pode morrer se comer. Florisvaldo Balão e Rita Popó são acostumados a comer baiacu, todos os que partilharão do almoço são acostumados a comer baiacu e foi por isso que ele se benzeu e fez sua prece, para não morrer ainda desta vez. Depois passou para a sala, onde já estavam alguns convidados, dos dez ou doze que viriam juntar-se a ele e a Rita, como acontecia quase todos os domingos. E entrou sorridente, porque sabia qual devia ser o assunto das conversas, que era sempre o mesmo quando se servia baiacu, ou seja, histórias de mortes de gente que comeu baiacu. Como justamente a que Edésia Tata estava finalizando, a respeito dos cinco amidos te tomeram baiatu, foram dormir e nunta mais atordaram, a não ser um, te atordou mas fitou maluto da tabeça. — Esse foi o povo que morreu na Ponta do Trilho? — perguntou Florisvaldo. — Não, esse da Ponta do Trilho foi outro caso — explicou Ramiro Grande, famoso por uma vez ter deixado de comer baiacu e voltado, quando já parecia livre da tentação. — No caso da Ponta do Trilho, a filha mais velha da casa não comia baiacu, mas comeu a galinha que comeu a tripa do baiacu e então morreu quem comeu peixe, morreu quem comeu galinha, morreu até quem tomou canja dessa dita galinha e os cachorros que comeram os restos. — O baiacu de hoje quem tratou? — Foi Désia. — Foi eu não, só tratei três, o resto foi Sá Rita. — Baiacu de duas mãos? — Que é que tem? Mesmo sistema. — Baiacu de duas mãos hoje, hem? Sempre ouvi dizer que baiacu de duas mãos não é boa coisa. E ainda estavam discutindo sobre o baiacu, quando Rita Popó, tão gorda que achava mais cômodo passar de lado pela porta apesar da peitarrama, voltou de um quartinho fora de casa que chamava de camarinha, parou na cozinha, experimentou a textura do peixe com a
ponta da colher de pau, despejou um pouco mais de água na panela, abanou o fogo e entrou na sala. Deu um sorriso pouco amável para todos, aceitou com certo enfado as saudações respeitosas que lhe fizeram, alegou estar cansada, vinha tendo uma trabalheira muito grande. Florisvaldo chamou-a a um canto para uma conversa particular. — O general, o general continua lá na camarinha? — Continua, continua. — Tu não acha que ele já devia sair? Tem quanto tempo que ele está lá? Já tem quase quinze dias, não tem não? — Vai fazer. Deve ter uns dez ou doze. — Ô, e tu não sabe quantos dias ele tem de passar lá? Não está contando os dias? Que preceito diferente é esse? — Não fale de coisa que tu não entende. Isso não é propriamente um preceito, é um outro tipo de coisa. — Mas ele nunca vai sair de lá, não? Eu fico com medo, ele é general, é importante, uma hora dessas resolvem procurar ele e aí quem vai acabar apagando o fifó somos nós. — A porta não está com chave passada, ele não está obrigado a ficar lá, pode sair na hora que quiser. Ele está lá porque quer, ele acha importante ficar lá o tempo que for preciso. — O tempo que for preciso para quê? — Para ele descobrir alguma coisa. — Alguma coisa, o quê? — Se ele ainda não descobriu, como é que eu posso saber? — Mas foi tu que fez ele fazer isso tudo, foi tu que aconselhou. — Eu conversei com ele, foi isso que eu fiz. Ele veio me procurar, tu sabe que ele veio me procurar, ninguém chamou ele. Ele me conhecia e aí veio me procurar. — Ele te conhecia de onde? — Me conhecia de muito tempo, do tempo da finada Rufina minha mãe, do tempo de Zé Popó por aqui. Ele conversou com minha mãe uma vez, foi uma coisa muito importante para ele, então voltou aqui achando que ela pudesse ainda estar viva. Foi no Tuntum, foi em Manguinhos, foi em Porto Santo, catou tudo, até que me achou. Eu não vi a conversa que minha mãe teve com ele porque estava manifestada na hora, e logo de Sinique, que me estropia toda quando sai doido para arrebentar cerca, mourão e galinheiro, mas ele me contou tudo. — Tudo o quê, qual é a história que ele te contou? — Ah, isso eu não posso te dizer. A história é dele, não é minha, só quem pode contar é ele, minha obrigação é me calar. — Tu não está achando esquisito tudo isso, não? Esse homem aí, branco, importante, general, assim aí trancado feito doido na camarinha... — Ele não está feito doido, está pensando e aprendendo na camarinha, lá sozinho. E, de mais a mais, tu não tem nada com isso, deixe esse assunto comigo, não te meta nisso, que pode não ser bom para tu. — Está certo, está certo, é só preocupação minha, tu esquece que o pequeno é sempre quem paga o pato. Mas está certo, tu é que sabe. O escaldado não já está pronto, não? — Deve estar. Edésia, minha filha, me ajude aqui no pirão, que aquela panela é pesada.
Logo estavam se abancando para comer, alegrados pelo convívio e pela soberbia que é a verdadeira razão por que se come baiacu, pois uma pessoa que come baiacu não é igual às outras. E também que dia lindo fazia, o sol a pino de janeiro retinindo no mar mais azul-claro possível, debaixo de um céu como outro não existe nem pode existir, o nordestalzinho refrescando as moringas nas janelas, as sombras das árvores indo e vindo com o vento e desenhando mosaicos no chão, os bem-te-vis numa cantoria que se notava que era festa, de mais amplo conforto não podendo desfrutar criatura alguma neste mundo. Florisvaldo observou como fazia um dia belo e em seguida encheu sua gamelinha, benzeu-se, rezou, beijou a medalha do pescoço e as guias, começou a almoçar, elogiando muito o tempero. Ramiro pediu para, se lhe acontecesse alguma coisa, mandarem um recado para a mulher vir cuidar do enterro, pois ela estava na Encarnação, passando uns tempos com a mãe doente de uma moqueca de baiacu. Alguém perguntou se Edésia, que era a mais antiga comedora de baiacu, já havia sentido alguma coisa e ela respondeu que somente uma vez. Deu tomichão nos beiços, deu tomichão nas pontas dos dedos, deu formidamento nas pernas. Depois deu tontura, mas tontura dostosa, melhor do te tontura de vinho. E depois deu uma leseira de mais de tinze dias, mas só foi isso te deu, se dissesse te sentira mais alduma toisa era potota. Rita Popó sorriu e se levantou para levar um prato feito para o general, não baiacu, que só se dá a quem pede, mas duas carapebas que ela tinha mandado fazer em separado, com arroz, feijão mulatinho e umas verdurinhas.
Dentro da camarinha, logo depois que Rita Popó saiu para providenciar o almoço, Patrício Macário perguntou a si mesmo quantos dias fazia que estava ali e concluiu que só conseguiria saber se perguntasse, pois tinha perdido a noção do tempo e, se não fosse pela claridade que, embora pouca, entrava no aposento, não saberia nem mesmo se era dia ou noite. Que experiência curiosa! E como, afinal, importava pouco o tempo, como, de certa forma, não existia fora das pessoas, apenas dentro delas. Sabia, e imaginava que todo mundo sabia, que o tempo reveza suas várias durações e que uma hora pode ser longuíssima ou instantânea, mas agora sabia também algo mais fundo, que talvez não conseguisse explicar a ninguém que não tivesse vivido experiência semelhante. Ganhara uma nova intimidade com o tempo, ali trancado sem relógio, sem calendário, sem preocupações e sem conversa, a não ser pelas visitas de Rita Popó. Talvez nem mesmo intimidade, mas independência, talvez indiferença, talvez até o desprezo que se passa a devotar a alguma coisa cujo poder, antes temido, se expõe subitamente como um embuste. Coisas que, como lhe tinha dito aquela estranhíssima mulher, não podem ser aprendidas por meio de palavras e, consequentemente, não podem ser ensinadas por meio de palavras. Sim, estranhíssima mulher, rude e analfabeta e ao mesmo tempo sábia, não só em coisas de seu ofício de feiticeira como em outras, que não se esperariam de gente como ela. Se bem que a ligação com Maria da Fé levava a crer que havia algo de especial nela, certamente que havia, claro que havia. Procurara a mãe dela, depois descobrira que ela não somente herdara o sacerdócio como adquirira fama ainda maior do que a da mãe. Engordara prodigiosamente desde o dia em que a vira pela primeira vez, a ponto de não tê-la reconhecido quando a encontrou desta feita. E agora era uma figura imponente e monumental,
cuja aparência infundiria respeito mesmo que ela não tivesse o grande prestígio que tinha entre sua gente. Recebera-o de uma forma que o intrigou. Ele chegara a Amoreiras a cavalo, depois de uma viagem tornada cansativa pelos aguaceiros que enlodaçaram todos os caminhos, e tivera alguma dificuldade em encontrar a casa dela, na verdade uma espécie de terreiro cercado por várias construções, escondido num matagal desguedelhado, de trilhas tortuosas. Quando pedia informações, as respostas eram reticentes, alguns alegavam mesmo que nunca tinham ouvido falar nela, nem sabiam da existência de nenhum terreiro nas proximidades. Foi preciso que falasse com um escrivão aposentado que conhecia e que tinha uma roça por ali, perto da praia, o qual, depois de estranhar um pouco seu pedido de informação, concordou em mandar com ele um de seus negros agregados para mostrar-lhe o caminho. Assim mesmo, o negro não completou a viagem até o terreiro, apenas chegou a distância suficiente para que o divisassem, pediu licença e deu com os calcanhares nas costelas de seu jegue, para voltar para casa. Patrício Macário aproximou-se do terreiro em andadura lenta, observou que as pessoas se afastavam à medida que ele ia entrando e apeou do cavalo, achando que talvez assim não os intimidasse tanto. Mas o comportamento deles não mudou e ele resolveu caminhar na direção da casa maior, para onde muitos corriam, como se lá houvesse alguém a quem alertar de sua vinda. Salpicado de respingos de barro endurecido até na barba, não devia estar com aparência muito tranquilizadora para aquele povo, acostumado a ter suas casas e utensílios religiosos depredados pelos brancos. Imaginou que devia sorrir e ainda estava pensando em como agiria ao chegar à porta da casa, quando ela apareceu na varanda, como se a presença dele ali fosse coisa corriqueira, saudou-o com um gesto e disse: — Bem-vindo, general Patrício Macário. Vosmecê demorou, mas finalmente chegou, bem-vindo. Pode entregar seu cavalo a esse menino a seu lado e entrar, faça o favor, temos grande satisfação em receber vosmecê em nossa casa. — Muito obrigado — foi tudo que ele, espantado, conseguiu dizer, entregando as rédeas do cavalo ao menino e batendo os pés no chão para sacudir o barro das botas antes de entrar. Pediu desculpas pela aparência, explicou que viera da cidade de Itaparica, normalmente uma viagem curta até ali, mas dificultada pela lama. E, com um pouco de ansiedade, já começava a contar por que procurara Sá Rufina e agora a procurava, mas ela o interrompeu e disse que não havia pressa, que ele não se afobasse, acabasse de chegar, tomasse um banho, trocasse a roupa, não se incomodasse, depois teriam todo o tempo do mundo para conversar, ela já fazia uma ideia do que ele estava querendo. Porque ela disse isto, foi com uma impaciência mal contida que ele tomou banho, vestiu a roupa que trouxera na malinha atrás da sela, calçou as botas que tinham limpado para ele, bebeu dois copos d’água e esperou, andando de um lado para o outro, que ela chegasse. Sentiu alguma decepção de início, porque, quando lhe perguntou por Maria da Fé, pela Irmandade, até por Zé Popó, recebeu respostas vagas e de aparência evasiva, que chegaram a irritá-lo. Mas ela percebeu isso e lhe explicou, com a voz paciente e monótona, que, ao contrário do que se pensa, a magia não é feita de fora, mas de dentro. Por isso é que se fala tanto na necessidade de ter fé para que as coisas aconteçam, pois a fé, afinal, não passa de uma maneira de ver o mundo que torna possíveis aquelas coisas que se deseja que aconteçam.
A fé, portanto, é um conhecimento, conhecimento que ele não tinha e ninguém lhe poderia dar, só ele mesmo, embora pudesse ser ajudado. Estava disposta a ajudá-lo, se ele quisesse e desde que compreendesse que o mundo pode ser visto de muitas formas. Ele certamente sabia que as pessoas que têm excessiva certeza de que há um só caminho e uma só verdade, verdade que lhes é inteiramente conhecida, são perigosas e propensas a todo tipo de crime. Saber da verdade e querer impô-la aos outros, num mundo onde tudo muda e tudo se encobre por toda sorte de aparências, é uma grave espécie de loucura. Por isso as pessoas assim loucas não entendem o Evangelho dos padres. Lá diz que se dê a outra cara quando se tomar uma bofetada e lá também se parte para encher de porrada os vendilhões do templo. Qual é o certo? A cabeça coroca, a cabeça empedrada, a cabeça que não se aventurou por caminhos que abram outras entradas para ela, essa cabeça escolherá um dos dois jeitos e passará a condenar o outro jeito, inventando as razões mais estúpidas para que o outro jeito não valha nada. Isto porque não compreende que tanto se deve dar a outra cara quanto se deve partir para a porrada, porque a vida é assim, ali diz uma coisa, ali diz outra, a vida não é escrita em tabulinhas, nem suas ordenações são arrumadas como os homens loucos querem, a única coisa arrumada é a mentira, a qual é a explicação certinha. Ela via na cara dele desapontamento por não receber respostas diretas, mas tentasse compreender que não podia dar respostas assim, havia coisas que dependiam da cabeça dele. Continuou ouvindo-a falar quase tonto, às vezes impaciente, às vezes fascinado, sem saber o que pensar daquele discurso que lhe parecia simultaneamente brilhante e desvairado, sensato e delirante. Chegou a interrompê-la num momento de exasperação, para indagar se não era uma impostura, para impressioná-lo, o jeito com que falara que ele demorara a vir, como se soubesse antecipadamente de sua chegada. Como soubera? Ela suspirou e disse que para isso não precisava ser adivinha, pois era óbvio que, pela história dele que ela conhecia, ele haveria de ter uma obsessão com seu passado e, portanto, viria mais dia menos dia tentar derreter essa obsessão. Ah, meu Deus, disse ela, é uma complicação quando se tem de explicar que na maneira de perguntar já se escolhe o tipo de resposta. Pediu desculpas pela franqueza e disse que ele não sabia perguntar, só sabia perguntar de uma forma e para essa forma ele já sabia as respostas que obteria, pois eram sempre as mesmas. Mas havia coisas que não se explicavam com palavras, mesmo porque as palavras são tiranas e não se desgrudam da experiência de cada um, assim escravizando as mentes. Se ele quisesse, repetiu, ela o ajudaria. Não havia um caminho certo, não era como um colégio em que se aprendem lições, era alguma coisa que dependeria muito dele — que dificuldade para explicar, meu Deus! Era como se ele só pudesse aprender se soubesse e só soubesse se pudesse aprender. Era um desarme, ele precisava entrar numa espécie de desarme, de esquecimento, entendia? Não, não entendia. Sim, ela sabia que era difícil, não era uma coisa que se ensinava com o diabo da desgrama das palavras, mas a única ajuda que podia oferecer era deixar que ali ele tentasse aprender, conhecendo ela o melhor meio, que já lhe diria, se ele quisesse. Ele queria. Queria mesmo? Queria, sim, queria, por que não, era pelo menos uma coisa nova na vida, uma experiência diferente. — Uma experiência diferente, sim — disse ela —, mas uma coisa nova, não. É uma
coisa velha. A primeira instrução foi de que não tinha de concordar com nada, tinha de seguir. Como seguir? Seguindo. Sim, mas como? Vá seguindo. Mas vá seguindo como? Vá seguindo, sabe o que é seguir? Então, pois vá seguindo. A segunda instrução foi de que se sentisse livre, nada era obrigado. Se não quisesse a porta fechada, abrisse a porta; se não quisesse ficar sozinho, saísse para conversar; se não quisesse ficar quieto, não ficasse quieto. Porém quisesse alguma coisa. Sim, como por exemplo? Por exemplo, que tipo de coisa se podia querer? Ah, sabe-se lá, qualquer coisa! Vá querendo qualquer coisa. Não era obrigado a querer alguma coisa, não era obrigado a nada, mas, se não quisesse alguma coisa, não estaria ali, pois não? Mas que coisa? Ô, e é eu que sei? Muito bem, terceiras, quartas e quintas e sextas instruções, todas bastante simples, e lá estava ele enclausurado. Nos dois primeiros dias, duvidou muito de que fosse permanecer ali, não acreditava que seu senso de ridículo lhe permitisse passar muito tempo entregue a tal experiência. Mas, no terceiro dia, quando se levantou para abrir a porta, que sabia fechada somente com um trinco, parou antes de estender o braço e não saiu, voltou para onde estivera sentado. Quando Rita Popó lhe apareceu pela primeira vez no dia, apressou-se a ironizar sua própria situação, mas ela pareceu não entender o que ele queria dizer. Em seguida pediu a ela um livro, uma revista, qualquer coisa para ler. Ela fez uma expressão de muita surpresa, quase como se desconhecesse o que aquelas palavras queriam dizer. Livros, como livros, se ninguém ali sabia ler? E para que ele queria ler, por que não procurava aprender de outras formas? Mas ele insistiu e ela acabou se lembrando de que tinha visto um livro na casa de um parente de Florisvaldo Balão que morava ali por perto, ia mandar buscar esse livro para darlhe, já que fazia tanta questão. Um pouco mais tarde, regressou com o livro, uma brochura amarelada e sem capa, com algumas páginas soltas e outras faltando. Sob o olhar de curiosidade dela, Patrício Macário folheou o livro, concluiu, por alguns títulos intermediários, que se tratava de uma coletânea de relatos de viagens, aventuras e explorações. Melhor do que nada, ia ler aquilo, agora só queria mais um favorzinho. Tinha ficado com vontade de beber alguma coisa, ela não lhe conseguiria um pouco de aguardente? Bebeu muito mais do que planejara e, pouco antes do meio-dia, viu-se rolando no chão de rir, em meio a uma história coalhada de perigos, mortes e feitos heroicos, em que navegadores espanhóis combatiam piratas mouros na costa da África, naufragavam e eram obrigados a enfrentar o Povo Pigmeu, gente ferocíssima, de dentes de navalha e zarabatanas envenenadas, apesar de uma altura média de apenas dois palmos e meio. — Estou aprendendo, estou aprendendo! — disse a Rita Popó, entre gargalhadas, na hora em que ela veio trazer-lhe a comida. — No livro? O livro é bom? — É ótimo! Estava lendo uma história de pigmeus, um povo que mede dois... dois... dois palmos... dois palmos e meio... de altura! Tentou continuar a contar a história, o riso não deixou, ela acabou contagiada, riu também, pegou uma cumbuquinha e serviu-se de um gole de cachaça. Patrício Macário a aplaudiu, quis fazer um brinde, mas arrebentou em nova gargalhada, apertando a barriga com os braços. Ela tomou outra cumbuquinha de cachaça, queixou de que não gostava daquilo assim sem mistura — ele não queria provar uma infusão que ela tinha lá dentro? Mas claro
que queria, fosse logo, nada como algumas pequenas libações antes do almoço! Mais tarde, sem saber quanto tempo havia passado e nem mesmo se tinha almoçado, nem mesmo se era dia ou noite, pensou em levantar-se para entreabrir o postigo e ver se havia ou não luz lá fora, mas depois achou que era apenas um hábito estúpido e sem razão, esse de saber que altura do dia era. Que diferença fazia, por que tinha de levantar-se para submeter-se a uma coisa sem razão de ser? Sentiu-se muito feliz com a decisão de não levantar-se, sentiuse, aliás, extraordinariamente bem, ao contrário do que esperaria quem tivesse bebido tanta cachaça quanto ele. Devia ser a tal infusão, alguma das ervas milagrosas que esse povo conhece e mantém em segredo. Mas se levantaria de qualquer forma, queria pegar o livro, que estava a uns três passos de distância. Quando foi mexer-se, contudo, não conseguiu. O que era isso, estava paralítico? Mas só teve um instante de pânico, porque logo em seguida compreendeu com grande calma que não estava paralítico, era como se um lado de sua vontade quisesse experimentar não poder mexer-se. Podia mexer-se, queria mexer-se, mas também não podia nem queria mexer-se. Como era possível entender isso? Mas era o que estava acontecendo e então ele permaneceu absolutamente imóvel, sentado no catre com as costas contra a parede junto da cabeceira. Talvez fosse melhor ajeitar-se um pouco, talvez esticar mais a perna para que ficasse inteiramente confortável, mas logo compreendeu que não precisava disso, pois cada vez mais o corpo parecia abstrair-se da mente, ou esta daquele, de forma que a posição em que se encontrava perdia cada vez mais a importância. Já teria lido o livro, nesse tempo misterioso que passou? Certamente que sim, porque, embora não se lembrasse de coisa nenhuma dele, a não ser o conto dos pigmeus, podia agora olhá-lo e lê-lo sem tocá-lo e sem abri-lo, como se ele se desenrolasse sozinho à sua frente, não em letras, não em imagens, não em qualquer coisa definida, mas muito claro. Bastava descansar os olhos nele, que ele como que se tornava vivo e transparente. Compreendendo que algo de inusitado se passava, Patrício Macário também compreendeu de vez o que Rita Popó tinha querido dizer, quando lhe recomendou que apenas seguisse. Apenas seguiu, tirando a atenção do livro e passando a observar como as paredes assumiam as cores e texturas que quisesse, como tudo era engraçado e triste conforme quisesse, como o teto se abriria ou se levantaria se quisesse. Mas então por que não queria, só para ver? Porque, subitamente, não lhe interessava ver um teto subir pela força de um desejo, interessava apenas saber que se moveria se ele quisesse, como também seus músculos parados se moveriam se ele quisesse. Como contaria a alguém o sentimento que experimentava? Diria que era alegria, euforia? Sim, mas um pouco mais e um pouco menos do que isso. Triunfo, poder? Não, algo parecido, mas com uma diferença que tornava impossível usar essas duas palavras. Nem dormindo nem acordado, nem de olhos fechados nem de olhos abertos, entregou-se ao mar de pensamentos e formas que o engolfava, sem preocupar-se sobre aonde estava indo, como estava indo, o que ia encontrar, se ia encontrar, somente indo. Agora, um pouquinho antes de Rita Popó vir trazer as duas carapebas, ele terminava de solidificar a tranquilidade que, já fazia pelo menos dois dias, sentia chegar-lhe, cada vez mais forte, uma espécie de segurança calma, de alegria e força silenciosas. Não se incomodava em querer saber se aquilo era apenas uma impressão, da mesma forma que deixara de querer saber se tudo o que lhe acontecera, acontecera de fato, ou se tinha sido
imaginação. Tampouco se incomodava, como aconteceria antes, com a circunstância de que jamais seria capaz de ordenar ou organizar logicamente essa temporada inacreditável na camarinha. Lembrava-se de haver conversado com muita gente, de ter ouvido e contado histórias, de ter tido aventuras mentais de que jamais esqueceria. Lembrava-se também de uma vez em que estava rindo muito na companhia de Rita Popó e lhe perguntou se por acaso não estava maluco. Ela lhe respondeu que não, que maluco ele talvez fosse antes e, se agora as coisas muitas vezes lhe pareciam extraordinariamente engraçadas, era porque ele as via com os muitos olhos novos que estava ganhando e aprendendo a usar. Ele concordou, mas, de qualquer forma, insistiu em que pelo menos já não era mais o mesmo. Claro que não, respondeu ela, porque a cabeça mudou. Tinham ficado muito amigos, tinham mesmo desenvolvido uma intimidade confortável e às vezes nem precisavam realmente falar para conversar, nem tampouco precisavam comentar a experiência, pois ela tinha razão, não era como o aprendizado de uma escola. Na verdade, talvez agora é que começasse o aprendizado, quando ele saísse de volta ao mundo, para ver tudo o que já conhecia como se fosse a primeira vez. Sabia que finalmente sairia, abriria a porta e sairia, estava pronto para sair. Queria apenas esperá-la, conversar ainda um pouco e afinal despedir-se. Não havia achado nada a respeito de Maria da Fé, a não ser algumas histórias vagas. De Zé Popó tampouco se sabia e, sobre a Irmandade, Rita Popó se limitava a mudar de assunto. Bem, mas valera a pena de qualquer maneira, isto mesmo diria a ela. Achou divertido que, se alguém, até um de seus amigos, lhe perguntasse o que estivera fazendo esse tempo todo, não saberia responder mesmo se quisesse, devendo ser esta a principal razão por que todas aquelas coisas eram secretas, porque intransmissíveis a não ser pela experiência. Ouviu os passos dela chegando, levantou-se para esperá-la à porta.
— Mas, criatura de Deus, tu perdeu o juízo? — disse Florisvaldo a Rita Popó. — Leve de volta a carapeba do homem, diga a ele para desistir desse negócio de baiacu! — Está com usura no baiacu? — respondeu ela, sem interromper o que fazia na cozinha. — Tem de sobra, não se preocupe. — Que usura no baiacu, eu estou é pensando se esse homem morre aqui depois de comer baiacu, vão dizer que fomos nós quem envenenou. — Se ele morrer, nós morremos também, é o mesmo escaldado. — Não, senhora, pode acontecer que um morra, outro não morra, todo mundo sabe disso. — Não adianta, Florisvaldo, eu vou levar baiacu para ele. — Mas que ideia mais atrasada essa, por que tu foi dizer a ele que tinha baiacu aqui? — Não sei. Não sei, mas disse e, quando disse, ele aí respondeu que não queria comer aquelas carapebas, queria comer do escaldado de baiacu também. — Mas tu não disse a ele que podia matar, não explicou o que é o baiacu? — Expliquei, expliquei. Mas ele continuou querendo, só não veio almoçar aqui porque é o último dia que ele fica na camarinha e aí quer fazer o almoço lá. Eu vou almoçar lá junto com ele. — E por quê? É obrigação?
— Mais ou menos. Agora me dê licença, que eu vou levar a comida, dê licença. — Eu ainda quero dizer que sou contra. Se esse general aí morrer, não vai faltar corda de forca para nenhum de nós. — Deixe de besteira, tu mesmo já mordeu do baiacu e não está sentindo nada. — Mas eu ainda não acabei de almoçar e é quando a pessoa acaba de almoçar que faz o efeito. — Nem vai acabar, se continuar aí conversando. Dê licença, dê licença, eu já volto. Cobriu com um pano a malga cheia de escaldado que ia levar, arrumou um prato emborcado sobre a vasilha do pirão, pôs tudo em cima de um tabuleiro e foi saindo com ele na cabeça, apenas uma mão encostada de leve na borda, para equilibrá-lo. Quando chegou à camarinha, o general, bem mais composto que antes, abriu-lhe a porta satisfeito. — Ah, excelente! E que bela ideia, a do tabuleiro! Servirá de mesa, podemos ajeitá-lo aqui em cima desses dois tamboretes, ficará bem. Esplêndido! Cheira muito bem! É a primeira vez que tenho fome aqui, a primeira vez que tenho realmente fome em muito tempo! — Os outros não acreditaram, quando eu disse que vosmecê ia comer o baiacu. — Não me conhecem. Mas deixe-me ver, posso levantar o pano? É isto aqui, não é? Esplêndido! Esplêndido mesmo, são sempre assim brancos, ou é o tratamento? — Não, é uma carne branca assim mesmo, é o melhor peixe do mar. — Pelo cheiro já sei, já se pode avaliar. Sentaram-se em dois outros tamboretes e ele perguntou, brandindo a colher de pau, se podia servi-la. Não, não, ela o serviria, a visita era ele, tinha direito aos melhores pedaços, se bem que tudo ali fosse do bom e do melhor. Fez um prato reforçado para ele, cavou no pirão uma mossa com as costas da colher, despejou o caldo em cima. Ah, como cheira bem! Seriam verdade mesmo, essas histórias de mortes provocadas por peixe de aparência tão apetitosa? Sim, eram verdade, o baiacu é peixe de príncipes e nobres de altíssima estirpe, o peixe do rei do Japão, que lá o chama de peixe fugu e dele só pode comer quem o rei permita por consideração ou estima, é um peixe misterioso. Então, minha cara Sá Rita, estamos tendo um banquete de reis e me queriam negar este privilégio sob a insignificante alegação de que posso morrer depois do almoço? E onde fica a dignidade de quem vê outros provarem de uma iguaria e só não o faz também por covardia? E onde fica a verdadeira indiferença pela morte? Por dever, é fácil; por prazer, é que é a prova. Tem razão, Sá Rita. Comer deste peixe é uma experiência tão rica que podiam ser escritos livros sobre ela. Mergulhou o grande garfo de três dentes no escaldado, começou a comer. Mas como era bom esse escaldado, entendia perfeitamente o zelo do rei do Japão! E Sá Rita não ia comer? Ah, bem, mas que belo encerramento para esta temporada fenomenal! — É bem verdade — disse, depois de observar que a carne não tinha espinhas e era de uma delicadeza inimitável —, que vou embora sem ter derretido a obsessão, para usar suas palavras. Lembra-se que vosmecê disse que eu vim para derreter uma obsessão? Era verdade, continuo querendo derreter essa obsessão, mas não a derreti, ela continua muito sólida. Isto não significa, é claro, que eu me arrependa, muito pelo contrário, eu... Mas que excelente peixe! Esplêndido mesmo, esplêndido! — Ainda é cedo para vosmecê saber se não derreteu a obsessão.
— Talvez, mas, como lhe disse, vou embora hoje. E, naturalmente, não queria ir embora sem agradecer-lhe por tudo, agradecer-lhe realmente de coração. — Vosmecê não tem nada que agradecer, general. — Nada disso, tenho muito o que agradecer, sim. Mas, é claro, isto não impede que antes desfrutemos deste peixe extraordinário. Esplêndido! Depois de servir-se três vezes, comentou que jamais comera tão bem em sua vida, puxou o tamborete para junto da parede e encostou-se nela com as pernas espichadas. Perguntou a Rita Popó quanto tempo um baiacu venenoso levaria para fazer efeito e ela respondeu que não sabia, que dependia muito. De qualquer forma, seria uma bela morte — comentou ele — raramente se sentira tão bem. Ela também estava vendo, ali diante deles, o rei do Japão de punhos fechados na cintura, enfezado porque comeram o baiacu real? Estava? Muito bem, Sá Rita, ignoraremos o rei do Japão — isto é, se ele calar a boca, inclusive porque não entendo uma palavra de japonês — e, de minha parte, tomarei a liberdade de fazer uma pequena modificação em meus planos. Depois de uma refeição como esta, não posso dispensar-me de repousar, contando mais uma vez com sua hospitalidade. Durmo um pouco ainda aqui e depois parto. O tempo agora está seco, não está? Pois então, em pouco tempo chegarei de volta a Itaparica, onde espero que Adalícia não esteja muito preocupada, porque eu lhe disse que iria fazer uma viagem curta e, honestamente, não sei quantos dias passei aqui. Sinto uma espécie de cócega nos lábios, a pimenta dá isso? Não, não só sinto formigamento nos lábios como uma espécie de torpor e as pernas dormentes. Mas não é uma sensação desagradável, antes pelo contrário. Sente a mesma coisa também, Sá Rita? Crê então que o baiacu estava envenenado? Pode ser então que estejamos morrendo? Não devíamos estar com medo? Isto é tudo? Pode-se dizer que estamos morrendo? Correto? Estamos morrendo? — Estamos mortos? — perguntou depois de erguer o tronco num mundo tornado absolutamente silencioso, onde sua voz era o único som no ar. Rita Popó voltou-se e ele percebeu que ela também não sabia se estava morta ou não. — Não sei — disse ela. — Talvez um pouco, talvez muito. — Estamos sentados ou deitados? — Não sei. Eu me sinto um pouco boiando. — Tem razão. Agora que me diz isto, noto que estou boiando, estamos ambos flutuando. Flutuando, sim! Perde um pouco o sentido querer saber se estamos de pé ou deitados, estamos de todos os jeitos, é claro. — Sim, de todos os jeitos, é verdade. — Será que os outros estão também assim? É também possível que estejamos sonhando juntos? Estamos sonhando juntos? — Podemos estar sonhando juntos. — Não devíamos procurar os outros? Afinal... — Bem, nesse caso eu vou, vosmecê pode ficar aqui. — Não quer que eu vá junto? Se bem que ainda não tenha certeza de como vou mexerme. — Não, continue descansando aí, eu vou. Ele a viu levantar-se, não como alguém que se ergue mas como se desdobrasse
articulações diferentes das normais, deslizar até a porta e sair, sem que pudesse verificar se ela realmente a abrira ou desaparecera através da madeira. Pensou em fazer o mesmo, sentiuse girar no ar como uma folha carregada pelo vento, viu-se também articulado de maneira esquisita, mas logo notou que podia ir até a porta se quisesse. Contudo, não chegou a saber se a atravessaria, porque ela se abriu devagar e Rita Popó entrou, acompanhada de um homem moreno e alto, cujos traços o fizeram estremecer. — Neste último dia — falou Rita Popó, a voz como um reboo dentro de um pote vazio —, vosmecê está recebendo uma visita. Este aqui é Lourenço, seu filho, filho único de Maria da Fé. Patrício Macário ouviu o coração bater como se tivesse subido para a cabeça, levantou as mãos. — Meu filho? — perguntou, embora soubesse que era verdade assim que o viu. — Meu filho? Mas Rita Popó, sem que ele notasse como, já tinha sumido. O homem andou na direção dele, estendeu-lhe os braços. — Meu filho? Lourenço? Eu nunca... Eu... Abraçou o filho e permaneceram abraçados enquanto ele chorava em silêncio, sem mesmo querer perguntar coisa alguma, até mesmo conhecendo já as respostas a muito do que poderia perguntar. — Meu filho... Lourenço... Tua mãe... Oh, meu Deus, meu filho! Quantos anos tem? Ah, não interessa, para mim nasceste agora, meu filho, meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Sentaram-se de mãos dadas para conversar. Como Lourenço parecia com a mãe! Sabia que tinha a mãe mais linda que já houve no mundo, tão linda e tão perfeita que ela mesma lhe tinha dito que um dia até ele pensaria que ela não passava de uma lenda? Sim, um filho, ela tinha ficado grávida dele, nunca poderia esperar presente tamanho! Sabia o que era felicidade? Talvez soubesse, embora fosse ainda muito jovem para saber mesmo, mas lhe dizia: felicidade era o que estava sentindo diante de seu filho com Maria da Fé, diante da prova mais funda de que ela o amara, diante do infinito e da maravilha da vida. Não, felicidade não era isso, não era um conceito abstrato, felicidade era uma coisa concreta, corporificada, felicidade era ele. Meu filho! Também sabia da resposta para o que perguntaria em seguida, mas precisava ouvi-la em voz alta, livrar-se daquele fantasma persistente em sua cabeça. Que havia acontecido a Maria da Fé, ela não estivera, por exemplo, em Canudos? Lourenço lhe disse que sim, ela estivera em Canudos, continuara a lutar pelo resto da vida, pois morrera, sim, morrera, embora ninguém soubesse como, porque, já bem velha embora forte, um dia desaparecera, depois de ter apenas saído sozinha num barco, pelo mar em redor das escabras da Ponta de Nossa Senhora. Na Ponta de Nossa Senhora? Na Ponta de Nossa Senhora, sim, em cujas redondezas, nem em nenhum outro lugar, jamais se achou nem resto dela nem do barco, vestígio nenhum. A única coisa que se achara dela fora aquilo que agora passava ao pai. Eram três lembranças. A arma chamada araçanga, que fora de seu avô, fora de sua mãe, a pescadora Daê, que era o símbolo do trabalho altivo, que tanto pode ser defesa quanto ataque; um esporão de arraia embutido numa bainha de pano, que fora de seu grande avô Nego Leléu, que
era o símbolo de que o povo tem mais armas ocultas do que se pensa ou imagina; e um frasco de vidro azul, com a tampa lacrada, em que ela guardara as lágrimas que chorara depois da separação. Que ele conservasse esse frasco para derramá-lo no mar de onde tudo saiu, no dia em que houvesse a liberdade que não houve para o seu amor, liberdade essa que um dia seria vivida, fosse por seus filhos, fosse por seus netos, fosse por seus bisnetos, fosse por descendência tão remota que nem mais soubessem deles, portassem apenas a herança, que ela queria orgulhosa e feliz. Essas três coisas foram encontradas na forquilha de uma árvore à beira da grande penha da Ponta de Nossa Senhora, lugar aonde ela voltava sempre que estava no Recôncavo. Tinham sido atadas num lenço com o monograma P.M., lenço este que ela tomara dele em segredo para guardar no rego entre os peitos pelo resto da vida e que agora devolvia, estando nesse lenço os cheiros deles misturados, como seus seres estavam misturados no filho Lourenço. — Posso morrer agora, não, meu filho? — disse Patrício Macário. — Não posso? Não porque queira morrer, mas porque estou finalmente tão feliz que não peço mais nada da vida, mais nada. Lourenço lhe respondeu que não, claro que não, devia pensar em viver, nunca em morrer, inclusive porque quem vive mesmo nunca realmente morre, nada vivo realmente morre. A morte é o reino dos que não servem senão a si, dos que carregam pairando sobre suas cabeças a sombra da mariposa curuquerê, os maus padres, os maus comandantes, os maus irmãos, os maus semelhantes, os ladrões do espírito e da crença em Deus, na vida e na esperança. — Que faz você, meu filho? — perguntou Patrício Macário, encantado em ver no moço seu porte e seus traços quando jovem, condensados pela luz e pelo fervor da mãe, que se atiravam para fora a cada gesto. — Faço revolução, meu pai — respondeu Lourenço. — Desde minha mãe, desde antes de minha mãe até, que buscamos uma consciência do que somos. Antes, não sabíamos nem que estávamos buscando alguma coisa, apenas nos revoltávamos. Mas à medida que o tempo passou, acumulamos sabedoria pela prática e pelo pensamento e hoje sabemos que buscamos essa consciência e estamos encontrando essa consciência. Não temos armas que vençam a opressão e jamais teremos, embora devamos lutar sempre que a nossa sobrevivência e a nossa honra tenha de ser defendida. Mas a nossa arma há de ser a cabeça, a cabeça de cada um e de todos, que não pode ser dominada e tem de afirmar-se. Nosso objetivo não é bem a igualdade, é mais a justiça, a liberdade, o orgulho, a dignidade, a boa convivência. Isto é uma luta que trespassará os séculos, porque os inimigos são muito fortes. A chibata continua, a pobreza aumenta, nada mudou. A Abolição não aboliu a escravidão, criou novos escravos. A República não aboliu a opressão, criou novos opressores. O povo não sabe de si, não tem consciência e tudo o que faz não é visto e somente lhe ensinam desprezo por si mesmo, por sua fala, por sua aparência, pelo que come, pelo que veste, pelo que é. Mas nós estamos fazendo essa revolução de pequenas e grandes batalhas, umas sangrentas, outras surdas, outras secretas, e é isto que eu faço, meu pai. O pai lhe perguntou também sobre a Irmandade. Lourenço lhe respondeu que existe a Irmandade do Povo Brasileiro e a Irmandade do Homem, que não há como acreditar que não
existam. Então coisas tão maravilhosas não aconteceram e não acontecem, não só a eles como a todos, mesmo os mais miseráveis? A cada instante, se se pensar bem, revela-se que nada é por acaso e, no entanto, o senso comum, maneira de amarrar a consciência e pear a liberdade, nega isso e prefere continuar a acreditar em verdades velhas e safadas. Não há esperança? Há esperança, sempre houve esperança, há esperança. Então há a Irmandade, pois, se ela não existisse, não podia haver esperança. Sua mãe explicava sempre que se sabia quando se pertencia à Irmandade. Não se sabia? Como podia o pai ignorar que pertencia a ela, sempre pertenceu, agora mais do que nunca? Bastava ver com seus novos olhos, pensar com sua nova cabeça e, principalmente, lembrar que há um Espírito do Homem e que esse Espírito do Homem tem como vontade mais nobre e mais forte não só sobreviver como prevalecer, pois o fracasso do mundo que herdou não será de Deus mas do Espírito do Homem, e esse fracasso é a única forma de um espírito degradar-se, é a única forma de morte. Esse Espírito é contraditório à Morte e, portanto, a Irmandade existe, pois esse Espírito necessita do Bem como necessitam os peixes da água. E por essa Irmandade há sacrifícios a cada instante, há milhares e milhares de lutas e heroísmos desconhecidos, de que só a Irmandade sabe e de que se guardam mementos, desde o tempo dos conspiradores da Casa da Farinha, desde antes dos conspiradores, através de muitos anos. Contou sobre a canastra de Júlio Dandão e disse que o pai seria guardião dela e que não se preocupasse com o que faria, porque isto também saberia naturalmente, sem que ninguém lhe explicasse. Talvez porque o filho tivesse falado que o Espírito precisa do Bem como os peixes da água, Patrício Macário, vivendo uma paixão tão forte que se sentiu não mais do que luz e calor, notou que estava dentro de um líquido translúcido junto com seu filho e que, tão patentemente que irritaria ter de explicar a alguém, eram diferentes e eram o mesmo homem. Olhou para o filho, viu-o pequeno aprendendo a andar, acompanhou com lágrimas de amor toda a infância dele, carregou-o no colo, sentou-se numa varanda pensando no milagre de seu menininho pela primeira vez usando palavras, pela primeira vez tendo uma opinião, pela primeira vez fazendo alguma coisa sem razão como é próprio do homem, pela primeira vez compreendendo que tinha um pai, pela primeira vez molhando as mãos na água da chuva, pela primeira vez se dando conta dos bichos, pela primeira vez cheirando uma fruta, pela primeira vez descobrindo que não podia olhar para o sol, pela primeira vez vendo um peixe, pela primeira vez procurando uma razão, pela primeira vez correndo por cima da areia da praia, pela primeira vez provando sal, pela primeira vez sacudindo o corpo por ouvir música, pela primeira vez se ensimesmando a um cantinho com sonhos e pensamentos só dele, pela primeira vez confiando num amigo, pela primeira vez olhando com maravilhamento para as mãos. Como pode, quem sente, esquivar-se de virar uma espiral de fogo, apenas por testemunhar a vida? Alçou-se no ar em direção ao Infinito, onde se achou num lugar escuro em que todas as coisas tinham cores, não havia calor mas não fazia frio e todas as distâncias podiam ser cobertas pelo pensamento. Pensamento este que moldava tudo, embora não como queria mas como devia, embora o que devia fosse o que quisesse, embora, indo para onde queria, fosse para onde era necessário que fosse. Ah, meninos e meninas, que coisas tão bonitas estão aqui passando, por que não se veem essas coisas? Me devolveram os olhos de menino e assim posso ser sábio. Me deram asas e assim posso navegar entre as estrelas e pressentir o
Absoluto e ter Fé, não só por dom como por conquista. As almas, as almas, as almas! As almas! Eu! Nós! Todos! Eu! As almas! Nós e eu! As almas! A alma!
Já quase meia-noite, na camarinha muito escura, Patrício Macário levantou-se e a primeira coisa que fez foi inspirar tão longamente que pensou não poder mais parar. Que havia acontecido, que estava acontecendo? Teria morrido um pouco, como dissera Rita Popó? Teria morrido e voltado? Estava morto? Apalpou-se, sacudiu a cabeça, esfregou os olhos, ouviu alguém mexer-se a seu lado. — Sá Rita? Riscou um fósforo na sola da bota, encontrou um fifó, acendeu-o, levantou-o na direção de onde ouvira o barulho, iluminou o rosto de Rita Popó, que sorria suavemente. — Nós... — começou ele a perguntar, mas ela fez um gesto como querendo dizer que não deviam falar. — Os outros... Novo gesto, ele calou-se. Lá fora, não havia mais o mesmo silêncio pétreo, a noite agora varada pelos cantos dos grilos e sapos e pelos ulos das corujas. Foi até a porta, abriu-a, olhou na direção da casa de Rita Popó, viu que lá também começavam a acender luzes. Então eles também... Caminhou para fora, deteve-se enquanto a porta da casa se abria e saíam duas pessoas, um homem e uma mulher, que também andaram para fora e estacaram a pouca distância da casa. Olharam para ele, e ele compreendeu que também não falariam sobre o que tinha acontecido, não era uma coisa de que se pudesse falar, não era, pensando bem, uma coisa de que ele mesmo quisesse falar. Voltou para a camarinha, procurou sinais da visita de seu filho, não encontrou nenhum. E os objetos que lhe dera, onde estavam? Também tinham desaparecido. Sorriu. Estava feliz de qualquer forma e agora desconfiava do hábito, que já perdia, de querer fazer distinções muito claras entre o ilusório e o real, parecia-lhe uma atitude até simplória. Iria embora naquela mesma hora. A noite era clara e o caminho da praia estava aberto pela maré baixa que ao longe refletia a luz da lua, ele se sentia muito bem-disposto, seria uma viagem muito agradável, tinha certeza. Abraçou Rita Popó demoradamente, disse-lhe que voltaria e ela respondeu que voltasse, sim, voltasse sempre que quisesse, seria muito bemvindo todas as vezes. Olhou em torno, catou alguns objetos, apanhou o casaco de cima do catre e só então viu que, dobrado no bolso da frente, estava um lenço amarfanhado pelo manuseio, com as iniciais P.M. Arrancou o lenço de dentro do bolso, levou-o ao nariz, cheirou-o de olhos fechados, apertou-o contra o coração, enfiou-o por baixo da camisa, encostado à pele. Rita Popó, a seu lado, não pareceu ter visto nada, nem ele comentou o que fizera. Abraçou-a outra vez, deixou a camarinha, foi para o curralzinho de jegues onde estava seu cavalo, pôs-lhe os arreios, montou e partiu rumo à praia, amarrando o chapéu na maçaneta da sela, para sentir o vento na cabeça. Na praia, tomou a direção de Itaparica em marcha andadeira, mas logo afrouxou a brida, e o cavalo passou a galopar alegremente pela areia chapinhante das coroas. Não podia mesmo haver lugar tão bonito quanto este, uma infinitude alvinitente encaixada na noite, o vento jogando ao espaço gotinhas-d’água que pareciam misturar-se com as estrelas, cintilando igual a elas e colorindo tudo o que se via. Apertou de novo o lenço contra o peito — poderia
haver felicidade mais plena do que a sua? Claro que não sabia ainda que, ao chegar em casa daí a alguns minutos, acordaria Adalícia com o barulho e ela, depois de bendizer nervosamente seu regresso, lhe mostraria uma canastra, um baú de estranha aparência, que na ausência dele tinham deixado lá sem que ela visse como e que ela não acertara a abrir. Em cima desse baú, ele veria também um embrulho de pano de que ela não tinha lembrança e, ao abrir o embrulho, encontraria um porrete de madeira rija marcado por muitas mossas, uma bainha de pano com um esporão de arraia dentro e um frasquinho azul cheio de lágrimas.
19
Estância Hidromineral de Itaparica, 7 de janeiro de 1977.
Stalin José discursará? Cumprirá o que prometeu — subir ao palanque, rasgar a camisa no peito como Napoleão nos seus cem dias, desafiar a que atirem no coração de um trabalhador compatriota e fazer um improviso denunciando a corrupção das classes dominantes, o vampirismo das multinacionais, o imperialismo norte-americano e a violência da ditadura que esmaga o povo brasileiro? Acusará de novo as autoridades presentes e representadas e de novo será enquadrado na Lei de Segurança Nacional e levado em cana para tomar umas bolachas, choque nos ovos, palmatorada na sola dos pés e telefone de mão em concha no pau de arara? Não basta que já esteja capenga e meio surdo dessas brincadeiras, além de — falase à boca pequena — ter de usar calçola de borracha porque depois dos choques não consegue mais controlar a urina? Não basta que em 38, ou senão 39, Getúlio tenha mandado enforcar o pai dele, o velho comunistão Teodomiro da Estiva, por um secreta de nome Luiz Marreta, que se gabava de já ter estrangulado mais de dez comunistas usando somente as mãos? E a sobrinha, filha de sua irmã, que foi presa porque estava namorando dentro de uma camionete com um subversivo, estuprada por seis homens e depois jogada morta na praia, com laudo cadavérico oficial atestando morte por afogamento? Maluca a família, por influência do velho, maluco ele, mais do que o velho. Que é que ele tem, num tempo como o de hoje, de ficar provocando? Aonde é que isso leva? O Sistema está muito sólido, as Forças Armadas estão unidas e coesas, advertindo a Nação contra o extremismo incendiário e as minorias que pretendem instalar o caos propício à implantação de ideologias exóticas tão em desacordo com as tradições ordeiras e pacíficas do povo brasileiro, vive-se em plena democracia, e então para que isso? Mas Stalin José é abilolado do juízo mesmo e garante que vai falar, diz que morre mas não cala a boca. Será que fala mesmo? Essas e outras indagações se repetem em toda a cidade, nas rodas de dominó da Praça da Quitanda, nas bancas de peixe do mercado, nas casas mais humildes e nas mais abastadas, como a de Ioiô Lavínio, onde só se bebe uísque escocês, mesmo porque o filho mais velho dele, Lavinoel, é da Polícia Federal e tem facilidade para conseguir do legítimo. E bebe-se bastante Cavalo Branco com gelo de água de coco e guaraná, tira-gosto de lambreta e queijo prato com molho inglês, enquanto se aguarda, já às nove e meia da manhã, que comecem os preparativos para a peixada de cabeça de mero com a qual Ioiô Lavínio mantém a tradição de não deixar passar o Sete de Janeiro em brancas nuvens. Coisa de família, pois Ioiô descende do lendário patriarca João Popó, por parte de Labatut Popó, ramo legítimo por conseguinte. Hoje em dia não há mais homens como João Popó, homens com H maiúsculo, nem as condições permitem que se comemore a data como ele fazia. Os mais antigos contavam que ele custeava do próprio bolso, durante toda a semana do Sete de Janeiro, as refeições dos pobres da cidade, além de mandar matar diversos bois para distribuir a carne à população. Era um homem severo, de costumes austeros, que não dava intimidade a ninguém, homem
como de fato não há mais hoje em dia. Se bem que Ioiô Lavínio seja também um patriota de convicções arraigadas e coragem cívica reconhecida por todos. Revolucionário da primeira hora em 1964, deu pessoalmente voz de prisão aos vereadores Lóydson Barreto, Juracy Bonfim, Radiclife Luz e Ruy Castro Alves da Conceição, não por serem seus inimigos pessoais e terem forçado o canalha do prefeito Oldismair das Neves, um palhaço sem autoridade moral nem nível para ser prefeito de uma cidade como Itaparica, a cobrar-lhe uma taxa extorsiva pela concessão do Mercado Municipal, mas por se tratar de comunistas ou criptocomunistas, o que dá no mesmo. Comunistas descarados todos os quatro, pandilheiros safados, onde é que na Rússia um mulato pachola como Ruy Castro Alves ia ter a liberdade que tem aqui? A verdade é que todo comunista é um recalcado, movido pelo despeito, pela inveja e pelo sentimento de inferioridade que quer compensar a qualquer custo, mesmo que isto implique na ruína dos homens de bem e da moral vigente. Então prendeu os quatro, telegrafou para o filho na Polícia Federal, sugeriu que os pusessem pelo menos na solitária e que, quando abrissem IPM contra eles, fizessem um interrogatório rigoroso, até mesmo usando a aparelhagem americana para esse serviço, porque a aparelhagem americana é superior a qualquer coisa usada aqui e dificilmente mata ou aleija. Ioiô Lavínio tinha suas razões, mas não queria que os miseráveis morressem, não condizia com seu espírito cristão. Quando eclodiu a gloriosa Revolução de 64, ele tomou a frente da coleta de ouro para o Brasil na ilha, havendo doado pessoalmente seu anel de contador, as alianças do casal, um prendedor de gravata, um colar e uma pulseira de relógio. Conseguiu que o delegado proibisse que qualquer pessoa, da terra ou veranista, circulasse pelas ruas em trajes de banho ofensivos ao decoro público. Reivindicou o exame da bagagem dos indivíduos de aparência hippie que desembarcassem na ilha, para evitar o ingresso de drogas ou material pornográfico. Obteve a proibição da peça Tenente Botas — Herói ou Mercenário?, que ia ser levada pelo Cenáculo Teatral Maria Felipa, demonstrando que atentava contra os ideais patrióticos e denegria uma figura ilustre de nossa História, em manobra de natureza obviamente bolchevique. Instituiu o Clube Juvenil 31 de Março, com a colaboração de um major do Exército amigo seu, major Eduardo da Vinci Mota, destinado a incentivar na criança o amor ao Brasil e aos valores básicos de nossa sociedade cristã, pacífica e harmoniosa, além de propiciar a prática de desportos sadios nas instalações planejadas, que, por fatores conjunturais, infelizmente nunca chegaram a ser concluídas, nem mesmo iniciadas, apesar de a colocação dos títulos haver constituído um êxito completo, notadamente graças ao jeito que o major tinha para vendas, sendo muito bem recebido por todos os comerciantes do interior a quem procurou, os quais frequentemente compravam até mais de um título. Coerente com seu passado, permaneceu contra Getúlio mesmo depois do golpe de 37, embora reconhecesse que era uma medida necessária para impor ordem a um país na beira do abismo. Mas a promulgação das leis trabalhistas o deixara tão transtornado que chegou a pensar em emigrar, não o fazendo porque a família terminou por dissuadi-lo. E, apesar de não ser galinha-verde como muitos amigos seus, não pôde deixar de indignar-se com a traição cometida contra a Ação Integralista, que se tentara esmagar, reduzindo-a à condição de um clube social. Fiscal de rendas nomeado por sua inquebrantável adesão ao juracisismo e posteriormente à UDN, fez carreira rápida no serviço público, no qual se deu muito bem por
sua diligência e lhaneza de trato, reconhecida pelos próprios fiscalizados, que sempre o cumularam de presentes muito generosos, como a casa que lhe deu o extinto comendador Inácio Pantaleão Pimenta, proprietário de uma cadeia de lojas de tecidos e armazéns de secos e molhados, além de outros, muitos outros que, sem necessidade de que ele abdicasse de seus princípios inarredáveis, lhe deram uma vida confortável e tranquila. Mesmo porque se aposentou muito moço ainda, valendo-se de uma lei que, além de aposentá-lo três níveis acima do seu, no último posto da carreira, contava dois terços de seu tempo de serviço em dobro, pelo exercício abnegado de diversos cargos em comissão e funções gratificadas. Ainda faltavam dois anos, mas isto foi contornado por um atestado conseguido junto a um médico amigo de muito prestígio, de cuja palavra ninguém ousaria duvidar. De volta à ilha, dedicou-se algum tempo à política, desistindo logo de envolver-se diretamente com ela. Em primeiro lugar, sua natureza de homem franco e sem rebuços, incapaz de mentiras, meias palavras, falsidades e golpes baixos, se repugnava diante da sordidez da política, dos cambalachos, dos conchavos, das traições, da malversação do dinheiro público — ele um homem tão rigoroso quanto a essas coisas que, quando um seu filho, então com oito anos, achou uma nota de dois mil réis no chão, fez com que procurasse o dono pela cidade toda, até devolvê-la. Em segundo lugar, houve o rompimento doloroso da velha amizade com o Dr. Gilson Duarte, que não atendeu a um cartão seu referente a Lavinoel, que ia fazer vestibular de Direito mas estava um pouco fraco em latim, sociologia e português, embora conhecesse algum Francês e tivesse decorado as dez primeiras linhas de cada uma das traduções que entravam no exame. A reprovação subsequente e a tentativa do Dr. Gilson de explicá-la foram um golpe rude numa amizade antiga, pois o professor e brilhante orador na Assembleia sempre contara com os votos de que Ioiô Lavínio dispunha, que não eram poucos, considerando quanta gente dependia dele. Dr. Gilson não lhe podia negar esse favor banal, quando seu próprio filho, tido como aluno brilhante da faculdade, era evidentemente protegido, dada a condição e o prestígio do pai. O resultado foi que Lavinoel teve de fazer novo vestibular, em Niterói, acarretando despesas e preocupações por causa de uma bobagem. Mas quem ri por último ri melhor e Lavinoel está muito bem colocado na Polícia Federal. Caprichoso, é hoje homem respeitado e bem situado, com uma bela casa na Pituba, uma lanchinha Carbrasmar de 25 pés, o carro do ano e três maravilhosos filhos, Marcus Vinícius, Vanessa e Priscilla Alessandra. Aliás, Ioiô Lavínio conseguiu formar e colocar todos os quatro filhos. Lavínia Graça, a mais velha depois de Lavinoel, não tinha muita cabeça para estudo, mas terminou completando o curso de Belas-Artes, pouco antes de ter dado ao pai e à mãe um desgosto que podia tê-los matado. Perdeu a virgindade com Ronaldo Jataí, desocupado da ilha, de uma família que outrora teve alguma coisa, mas hoje vive do aluguel do sobradão do avô, transformado em casa de cômodos e alojando pelo menos trinta famílias. E, pior, ficou grávida. Se não fosse pela amizade e confiança de Dr. Plínio Lobo, ligado de longa data à família, a situação poderia ter ficado insustentável. Dr. Plínio, felizmente, dispunha de sua clínica conveniada com o INPS e lá fez o aborto, movendo céus e terra para poupar as despesas com o internamento e a intervenção, já que Lavínia Graça não era contribuinte do INPS. Só o bom Deus, que tudo vê, é que conseguiu uma carteira assinada com data atrasada e
a documentação adulterada, porque o despachante da confiança do Dr. Plínio estava doente e foi uma dificuldade achar outro com a experiência suficiente. Mas tudo afinal se resolveu e a gratidão de Ioiô Lavínio quase não o deixou falar para agradecer, na hora em que assinava os papéis da alta da filha, onde constava a realização de uma grande cirurgia e internamento de quarenta dias, embora só tivesse sido um e meio, e mais alguns remédios e despesas, uma verdadeira fortuna para o INPS pagar, mas nessas questões não se pode olhar dinheiro e nada mais justo que o Dr. Plínio ser recompensado pelo risco e pela caridade. Ainda mais que também indicou um colega seu do Rio de Janeiro para fazer a reconstituição do hímen, o que foi providenciado ainda no mesmo ano com excelente resultado, tanto assim que Lavínia Graça se recuperou rapidamente do trauma e se casou com o Dr. Domingos Mendonça, originalmente formado em Eletrotécnica pela Escola de Eletromecânica, mas dedicado à corretagem de imóveis, tendo feito fortuna durante o boom do BNH, vendendo principalmente conjuntos habitacionais para populações de baixa renda e ganhando em comissões uma quantia que, conforme diz seu sogro com orgulho, daria já para construir mais uns vinte desses conjuntos. Lavínia Graça hoje aparece volta e meia nas colunas sociais e até promoveu uma exposição individual de suas colagens, com a colaboração e incentivo do Lions Club, intitulada Repintescências, que foi elogiada até mesmo na imprensa. O Dr. Domingos, cujas duas filhas, Monika e Erika, pretende educar na Suíça, é excelente genro, embora Lavínia Graça, por causa desse seu temperamento artístico, já tenha querido separar-se algumas vezes. A psicanálise, contudo, tem ajudado a ambos e agora tomam férias conjugais todos os anos, vivendo aparentemente em felicidade nunca experimentada antes. Lavindonor, o filho que veio depois de Lavínia Graça, foi o que deu mais trabalho, porque fez mal a duas moças do povo, gente de baixa extração mesmo e, numa dessas vezes, parece que pegou a menina a pulso, na companhia de dois amigos. Isso conta a negrinha, porque não se pode crer nessas descaradas que andam de bunda de fora e praticam os atos mais imundos que se pode imaginar, provocando os rapazes e procurando elas mesmas sarna para se coçar. De qualquer forma, não fosse o prestígio de Lavinoel junto ao Secretário de Segurança, as dificuldades seriam grandes, mesmo porque, apesar desse prestígio, Lavinoel ainda foi obrigado a alegar que a prisão de Lavindonor não interessava aos órgãos de segurança, por motivos que não podia revelar. Arquivado o inquérito policial, o menino deu mais umas cabeçadas na vida: atropelou uma criança de seis anos ao dirigir um pouco esquentado, mas felizmente ela não morreu, apenas ficou um pouco defeituosa da perna e cega de um olho, o que foi compensado pelo emprego de vigia de supermercado que Ioiô arranjou para o pai do atropelado, em troca de ele não apresentar queixa; envolveu-se durante algum tempo com um grupo de maconheiros e desordeiros, sendo uma vez preso por participar de um assalto a um posto de gasolina, mas felizmente provou-se mais tarde que tudo foi uma brincadeira depois da farra que estavam fazendo; finalmente, por causa dos policiais que ficaram seus amigos depois que o prenderam e souberam que era irmão de Lavinoel, tentou fazer concurso para investigador sem cobertura de um bom pistolão e perdeu, mas, mesmo assim, deu para participar de caçadas a bandidos em companhia de seus amigos, tendo sido acusado da morte de um playboy filhinho de papai envolvido com tóxicos e encontrado amarrado e fuzilado num matagal de Lauro de Freitas, no que mais tarde se provou haver sido legítima defesa por parte de Lavindonor. Felizmente, Deus ajuda a quem n’Ele confia e,
quando Lavindonor já parecia um caso perdido, foi salvo pelo amor, na forma de uma moça de excelente família sergipana, feiazinha mas muito prendada e caseira, filha única de um grande fazendeiro em Itabaiana. Essa moça foi uma verdadeira bênção na vida de Lavindonor, que hoje vive ajudando o sogro nos negócios e dedicado ao lar, na companhia da esposa e dos filhos, Robson, Rickson, Rockson e Rodney. Nas horas vagas, trabalha com dois coronéis do Exército na venda de aposentadorias, pensões e pecúlios da Caixa e Montepio da Grande Família Civil-Militar do Brasil, organização de propriedade de um grupo de sírio-libaneses de São Paulo mas presidida por um general nordestino, que tem apresentado excelente desempenho. Finalmente, Lavinette, a caçula, se casou muito cedo, teve duas filhas, Tatiana e Andréa, mas ainda assim conseguiu formar-se em Ciências Sociais. O marido, funcionário de um banco, era muito ciumento, um rapaz bastante limitado, que não via com bons olhos nem o trabalho, nem os colegas, nem as atitudes da mulher, de maneira que a separação se tornou inevitável e Lavinette hoje mantém um casamento aberto com um compositor chamado Jorge Mayflower, de Ituberá, que no momento se encontra no Rio de Janeiro para tratar da gravação de seu primeiro compacto simples, deixando sua filha, Alga Marinha, na companhia da mãe e dos avós. Nada, pois, como a alegria de ver a família quase toda junta, os amigos mais chegados, casa cheia e a perspectiva de uma peixada magistral, para que depois quem quisesse fosse ao desfile. Apesar do desgosto pelo possível discurso de Stalin José — de quem diziam ser parente por uma das linhas bastardas da família, mas ele não reconhecia —, não perderia o desfile, nem deixaria de estar no grupo que puxaria o carro do Caboclo, símbolo da luta itaparicana pela Independência. Não podia ficar ausente, era uma tradição, embora ele próprio já não discursasse, como fazia antigamente, em razão dos desgostos com a política. Mas nada de pensar nessas coisas, com um uísque que se vê que é legítimo pelo colar de bolhas que faz quando se agita a garrafa, com tira-gostos desta qualidade, com esta vida que está aí é para ser vivida, pois desta vida só se leva a vida que a gente leva. Lá dentro, de bermudas azuis e quepe de comodoro, o Dr. Domingos mostrava o funcionamento do novo estéreo que ele tinha trazido da excursão ao Disney World. Tinha trazido dois, aliás, um para ele, outro para Lavinoel, que conseguiu desembaraçá-los na Alfândega, juntamente com o estoque da butique que Lavínia Graça mantinha em casa para se distrair. Ioiô Lavínio decidiu ir lá, não só para ver o aparelho, como para pedir que pusessem uma música mais suave, um clássico como os de que ele gostava, Sobre as Ondas, um noturno de Chopin talvez. Passou pela estante de pau-marfim e pernas torneadas em ponta, procurando seus discos. Droga, tinham arrumado de novo a estante e, quando arrumavam, tudo sumia. Procurou entre os exemplares encadernados da Enciclopédia da Casa e do Escritório, da coleção Luz e Saber, da coleção de obras psicografadas pelos mais famosos médiuns, das obras de Humberto de Campos, da coletânea dos discursos de Ruy Barbosa, dos livros muito manuseados de Vargas Villa, dos volumes da Biblioteca do Exército e dos álbuns de fotografias. Não encontrou o que procurava, já ia gritar exasperado lá para dentro, quando resolveu abrir a portinhola de treliça, bateu com os discos e, bem atrás do long-play Carnaval dos Bons Tempos, achou o
Clássicos ao Piano n° 2. Ah, a Dança Ritual do Fogo, como não? Claro! Contentíssimo, nem se preocupou em fechar a portinha, correu para a sala de jantar, onde, brotando de um emaranhado de fios e caixas, o aparelho enchia a casa com os acordes de Besame Mucho, em fita cassete gravada por Ray Conniff e comprada em Miami. — Tire esse negócio aí e bote isto — disse Ioiô. — Isto é que é música! Você conhece a Dança Ritual do Fogo? — Que é isso, sogrão, todo mundo está adorando essa interpretação do Ray Conniff, ele dá uma vida nova a essa música. Lembra-se disso, acho que é do seu tempo... Besame, besame mucho! Como si fuera esta noche la ultima vez! Besame... — De fato, é bonito. Mas você não pode comparar isso com a música clássica. A música clássica é que é a verdadeira música. Não para todo momento, concordo, mas é a verdadeira música. — Está certo, sogrão, eu estava mesmo querendo experimentar o toca-discos. Este toca-discos é Garrard legítimo, agulha de diamante, sincronizador estroboscópico... Veja, olhando para estas ondinhas no prato, o senhor pode regular a velocidade de rotação, é uma coisa maravilhosa, a última palavra da tecnologia. Está vendo a cabeça do braço como se desloca em dois sentidos simultâneos, para acompanhar os sulcos dos discos? Chi, mas esse disco seu está imundo. Eu trouxe um spray eletrostático que limpa isso logo. Tem o spray e a escova de fio especial, mas está imundo! Instalou finalmente o disco no prato, não saiu som algum a princípio. Freneticamente, apertou dois botões, comentou que se esquecera de mudar a chave do amplificador apropriada para o input do toca-discos, apertou um terceiro e a sala se inundou das colcheias atropeladas da Dança. Ioiô Lavínio deslumbrou-se: mas que som! Correu lá para fora, chamou mais gente para ouvir, sentou-se diante das caixas e fechou os olhos. — Mas, sim senhor, que som magnífico! É outra coisa, outra coisa! O americano realmente sabe fazer as coisas. — O americano e o japonês. O americano já perde para o japonês em certos aspectos. — Sim, mas a América será sempre a América. Você não pode estabelecer termo de comparação entre um país como os Estados Unidos e um país que ele derrotou na guerra. — Mas precisou usar a bomba atômica. — Não precisou, a guerra já estava ganha. A bomba atômica foi mais uma coisa de efeito moral. A bomba atômica teve um efeito principalmente moral. O Japão hoje existe porque os Estados Unidos o recuperaram, através do grande general MacArthur, um dos maiores gênios da Humanidade neste século. — Concordo, grande general, grande mesmo. Não foi Gregory Peck que fez o papel dele? Foi Gregory Peck, tenho quase certeza. — O japonês é efetivamente um povo trabalhador, de mentalidade muito diferente da nossa, para ele o trabalho é tudo. Bote na mão de um brasileiro um terreno, bote na mão de um japonês outro igualzinho e você vai ver que, dentro de um ano, o japonês está rico e o brasileiro já vendeu o terreno para tomar cachaça e fazer filhos, esta é que é a realidade. É um problema de formação, de mentalidade. Como disse o general De Gaulle, o Brasil não é um país sério. A culpa de tudo isto que está aí não é do americano, como a esquerda vive dizendo para fazer propaganda soviética, é nossa mesmo, vem da descaração, da falta de seriedade, da
falta de persistência, da falta de espírito público, da falta de caráter mesmo. Se não fosse o americano, ai de nós, ai do mundo, esta é que é a verdade. Existem outros grandes povos, como o próprio japonês, o alemão... — O Lavinoel aqui me disse uma vez que era admirador de Hitler! — E em muitos aspectos sou mesmo! Não concordo com tudo o que ele fez, mas concordo em grande parte, ele tinha razão em muita coisa. — Os judeus, fale aí sua tese sobre os judeus. — Não se trata de tese, é uma coisa que todo mundo sabe. O judeu... Você já leu os Protocolos dos Sábios de Sião? Não? Pois então leia! Vai ser difícil de encontrar nas livrarias, porque, quando alguém publica, os judeus compram a edição toda para destruir. Mas eu tenho um e lhe empresto, para você ver. Papai já leu uns trechos. — Li, li, de fato é uma coisa impressionante. — Impressionante é apelido, é uma coisa aterradora. E você vê pelos judeus que a gente conhece. Eles mesmos se isolam, se socam todos em Nazaré. Se lembra daquele seu colega Jaime? Jaime, um gordinho que todo mundo achava legal, se lembra! Namorava com uma moça cristã lá na Faculdade, mas na hora de casar pegou uma Sara da vida qualquer, é sempre assim. Eles têm desprezo por nós, os judeus ainda destroem a Humanidade, vocês vão ver. — Quer dizer que você é a favor da exterminação dos judeus. — Sou! Não vou sair dizendo isso na rua, porque me chamam logo de antissemita e nazista e eu não sou nem antissemita nem nazista, minha posição política todo mundo sabe, sou pelo socialismo sueco, que é o mais perfeito regime na terra. Agora, a realidade é que o mal de Hitler foi ter executado somente seis milhões, é isso que eu sempre digo, o mal dele foi parar no meio do caminho. Você se lembra da história que contavam com Jaime lá na escola? Que ele tem dois sabonetinhos guardados em casa, escritos “Vovô” e “Vovó”? Ha-ha-ha! Sacou? Vovô e vovó, ha-ha! — Com essa risadaria toda, eu não vou ouvir a música! — Eu repito para o senhor depois, não se preocupe. Mas esta é ótima, vovô e vovó, ha-ha! Contaram a Jaiminho essa? — Contaram, tem sempre um escroto para contar. Waldir contou, Waldir sempre foi muito escroto. Se lembra de Waldir? — Silêncio aí, quero ouvir a música! — Foi o senhor mesmo quem puxou o assunto. — Sim, mas era uma conversa séria, não era para fazer piada. — Sem piada não tem conversa no Brasil, papai, o senhor não sabe como é o brasileiro? O brasileiro é mulher, cachaça, futebol, carnaval e molecagem, esta é que é a verdade. — É tristemente verdade, é verdade. Fico numa grande tristeza quando sou obrigado a concordar com isso, mas é verdade, é verdade mesmo. Você veja que os únicos lugares em que há algum progresso no Brasil são exatamente onde entrou o sangue estrangeiro, o alemão, o italiano, o japonês. Aqui na Bahia, o que é que nós temos? Os negros e o rebotalho da Europa, portugueses e espanhóis, e é isso que se vê. O Nordeste inteiro é assim. Pode se
querer tapar o sol com uma peneira? A verdade é dura, mas tem de ser dita. Se tivéssemos sido colonizados pelos holandeses... — Pelos ingleses, pelos ingleses! — Ou pelos ingleses! Tivemos o infortúnio de ser colonizados por Portugal, que inclusive só mandava bandidos para aqui. Por isso é que o Sete de Janeiro é para mim a data mais feliz, porque é quando se comemora a expulsão dessa canalha. Não adiantou nada, porque o mal já estava feito, mas pelo menos tivemos o gostinho, eu não suporto português, não gosto nem de conversar com português, me dá raiva. — Ora, papai, isso não está com nada, é claro que a culpa é das estruturas — disse Lavinette, que entrou na sala de repente, com os olhos meio injetados e semicerrados. — Lá vem você com essa conversa de estrutura de novo. Eu queria saber como é que a estrutura explica o analfabetismo, a preguiça, a doença... — Mas só explica! É que não dá para conversar com o careta, o careta não saca, simplesmente não saca. — Eu não sou careta! Eu não sou um velho careta. Se há um velho que não pode ser chamado de careta, sou eu. Canso de sentar no bar em companhia dos moços e me dou muito bem, sou muito bem recebido, você tem é preconceito, como muitos de sua geração. — Não é nada disso, paizão, não é nesse sentido. Mas a Guiana Holandesa não foi colonizada pelos holandeses? A Índia não foi colonizada pelos ingleses, a Nigéria, a Guiana Inglesa? — Mas isso é um caso muito diferente. — Não tem nada de diferente. O senhor tem de sacar isso em cima das estruturas. Portugal, tá sabendo, tinha uma estrutura diversa e essa estrutura é que causou... Nada desse papo de inferioridade, isso não tá com nada. Tem que sacar a estrutura. — Você conhece a história de Deus criando o mundo e dando tudo ao Brasil e aí o anjo assistente estranha e aí Deus diz que ele espere até ver o povo filhadap..., o povo safado que ele ia botar aqui? — disse Domingos, pondo o braço no ombro da cunhada e notando que ela estava sem sutiã, com os peitinhos arrebitados por baixo da batazinha encardida. — Ih, já manjo essa, já manjo, é tão antiga... Isso não tá com nada, vocês estão por fora — disse ela, começando a sair sem muita pressa e sem se livrar da mão do cunhado. — Não estou tão por fora assim — cochichou ele, saindo com ela depois de pegar o copo de uísque em cima da mesa, aproveitando para dar uma esfregadinha de braço nos peitinhos, que ela fingiu não notar. — Eu me dou com uma porção de gatinhas, você não me conhece, eu estou por dentro do pessoal jovem. Você não tem um baseadozinho aí, não? Eu queria fazer uma experiência, todo mundo diz que... É verdade que a pessoa adquire uma consciência nova? Eu não sou como você está pensando, sabe que eu leio muita poesia, eu gosto de curtir arte, eu... Ioiô Lavínio os viu saindo, deu um sorriso terno. A família, que coisa bonita! A Pátria é a família amplificada, pensou, com orgulho por saber de cor trechos e mais trechos de Ruy. Olhos marejados de paz consigo mesmo e gratidão a Deus pela felicidade que lhe dera na vida, voltou-se para a janela que dava para a grande maré soalheira, pesada e plúmbea como um oceano de mercúrio. Numa voltinha rápida, chegando a derramar um bocadinho do uísque que já levava à boca enquanto ia para a varanda com Lavinette, Domingos correu para o
aparelho, deu um piparote na tecla repeat e a Dança Ritual do Fogo borbotou das caixas de som em turbilhão. Como comunicar tal emoção, como partilhá-la? A família reunida, um luminoso Sete de Janeiro, esta bebida, esta música, este sentimento... Em vez de raiva, pela primeira vez sentiu compaixão de Stalin José. Será que ele falaria? Por que persistia naquela loucura, que não levava a nada? Por que não se adaptava à vida como ela é, num país de fato com alguns problemas, mas tão cordial, tão pacífico, tão abundante, tão rico em oportunidades, tão generoso?
E mais! Um país de povo alegre, festeiro, que dribla todas as dificuldades com o célebre jeitinho, um país feliz! E mais! Um povo que nunca enfrentou guerras, nem pestes, nem vulcões, nem terremotos, nem furacões, nem lutas fratricidas. E mais! Um povo que convive em amenidade e cortesia, um povo prestativo, de coração bondoso, em que todas as cores e raças se misturam livremente, pois desconhece o preconceito racial, visto que aqui o preconceito é econômico. E mais! Um povo de extraordinária musicalidade, capaz de, com instrumentos improvisados tais como caixas de fósforos, copos, pratos e latas velhas, fazer música que impressiona a qualquer estrangeiro, como esses turistas que pararam na Praça da Quitanda para assistir ao pessoal batendo um samba de roda na barraca de Naninho. — Não é isso mesmo? — perguntou a Stalin José o veranista Aloísio Pontes que, muito barrigudo, de chapéu de palha e ar radiante, voltava do mercado com umas lulas para isca e se detivera diante da barraca, onde lhe brotara uma epifania de amor ao Brasil. — Não há quem não fique contagiado com esse ritmo, hem? — acrescentou, dando uns passinhos pulados e rodopiando o saquinho plástico das lulas por cima da cabeça. — Saravá, meu pai, ê vatapá, cangerê, pra Ioiô, esquidô-esquidô! Simbora! Hem, bichinho? Stalin José sorriu, não tanto por se divertir com a animação do outro, mas por causa do saravá e das outras palavras, além do fato de aquele ser mais um carioca convicto de que na Bahia as pessoas tratam os outros por “bichinho” e, portanto, ouve “bichinho” e diz “bichinho” o tempo todo, embora só quem diga “bichinho” seja ele. Pensou no tempo em que essas coisas o irritavam a ponto de fazer com que quisesse brigar, principalmente quando bebia um pouco. Mas nada disso o irritava mais, poucas coisas ainda o irritavam. Até mesmo as que fazia questão de que o irritassem necessitavam já de um certo cultivo, como se a irritação fosse uma planta que exigisse cuidados especiais. Até a frustração por não saber cantar, nunca haver cantado coisa alguma na vida, não era mais tão forte quanto já fora, se bem que, com aquele pessoal tirando versos e saracoteando, sentisse uma espécie de saudade do que nunca fez. Passou a língua pela ponte fixa malfeita que lhe substituía os dentes da frente e lembrou que, por causa dessa incapacidade de cantar, perdera três daqueles dentes, quando, logo no começo da Redentora, um capitão lhe ordenara que cantasse o Hino Nacional. Respondeu que não sabia cantar, ofereceu-se para recitar, chegou a começar, mas o capitão interpretou aquilo como deboche da subversão sofisticada e lhe deu um murro na boca que quebrou os três dentes. Os outros dentes, bem, os outros tinham cada um a sua história, o da Petrobrás, o do parlamentarismo, o da passeata de 68... Já nem se lembrava de como havia perdido alguns, não ligava para os dentes, não ligava para quase nada. — O senhor não canta? — perguntou Aloísio Pontes. — Um baiano de quatro costados
como o senhor? Onde era que tinha conhecido esse sujeito? Devia ser do veraneio mesmo, do mingau do mercado, do mingau de Honorina, da banca de Aprígio, da bodega de Walter, da tenda de Calça Larga, de um lugar desses. Era difícil de esquecer por causa de seu ar invariavelmente divertido, uma alegria meio compulsiva e permanente demais, a cara sempre em tremeliques prévios a um risinho estertorado, mesmo quando o que lhe estavam falando não tinha nada de engraçado. — Hem, bichinho? — disse Aloísio. — Salve a Bahia, Iaiá! Salve a Bahia, Ioiô! Ziriguidum! — Eu não sei cantar — respondeu Stalin José à pergunta que Aloísio já tinha esquecido. — Que mulataço, hem? Um rabo daqueles... Que mulataço! O que é que o senhor falou? — Nada, não, só disse que não sabia cantar. — Ah, isso eu também não sei, mas canto do mesmo jeito. Quem canta seus males espanta! Realmente, que desgraça não conseguir entoar uma nota, nem quando os companheiros de cadeia cantavam hinos em desafio aos carcereiros. A quem teria saído, com essa surdez especializada? Não tinha certeza, mesmo porque, na parentela originada de João Popó, tão vasta que não se podia contar e diferençada de tantas maneiras, havia, pelo que lhe constava do pouco que sabia dela, muita gente com talento musical. Bem, havia de tudo entre os Popós, até um sujeito como ele que, mesmo antes de ficar com os ouvidos zunzunando o tempo todo por causa das porradas, não lograva distinguir uma melodia da outra, era tudo a mesma massa de barulhos desconexos. Curioso isso, porque o velho Teodomiro, seu pai, era músico. Quer dizer, não era músico propriamente, porque nunca pôde exercer a profissão e nem o filho jamais o viu tocando qualquer instrumento, sabia que era músico pelo que lhe contara. Por causa do padrinho, o finado comendador Miranda, o menino Teodomiro, apesar de filho de um posseiro pobre, conseguiu frequentar um conservatório da Bahia e era tido como o melhor aluno que por lá já passara, apesar de pardo. Mas o pai morreu de xistossomose, todo inchado, os dois irmãos tinham a mesma doença e eram fracos demais para trabalhar, as irmãs faziam o que podiam mas uma tinha as pernas cambaias de uma doença dos ossos e mal podia andar e as duas outras de vez em quando caíam de cama com maleita, os sobrinhos eram mirradinhos e cheios de vermes e então Teodomiro teve de abandonar a arte para arrimar a família. Melhorou a casa, fez horta e pomar, montou uma quitandinha na rua dos Patos, chegou a ter três jegues e uma vaca, começou uma criação de galinhas e conseguiu, com a ajuda do padrinho, internar a mãe na Santa Casa, para tratar a elefantíase que não a deixava mais ficar de pé. Mas, um belo dia de manhã, o destino mudou, porque chegou um homem de fora com a escritura do terreno onde ele morava e plantava e lhe disse que saísse imediatamente, precisava do espaço para montar uma criação de cavalos e não queria ninguém ali. Teodomiro ponderou que sua família sempre ali morara, que o antigo proprietário apenas cobrava uma percentagem do que a horta e o pomar produziam, além de receber três dúzias de ovos por semana das cinco que ele produzia — será que não poderia pelo menos conservar a casa e a horta? Não, não podia e, no dia seguinte, trouxeram uma carroça, empilharam tudo o que
pertencia a ele dentro dela, derrubaram a casa, destruíram as leiras da horta e deitaram abaixo o galinheiro. O padre consentiu que ficassem dormindo uns dias no adro da Igreja de São Lourenço junto com os mendigos, até que ele arranjou emprego na casa de uns veranistas para as duas irmãs e se instalou para morar na Areia do Sete, debaixo de um telheiro velho, o qual foi melhorando aos poucos com palha de coqueiro. Mas, quando montou de novo a quitanda, para revender a produção de outros, a prefeitura apreendeu tudo porque ele não tinha registro nem alvará, além de ser menor e não poder comerciar. O dono do terreno da Areia do Sete lhe deu um prazo de sete dias para sair de lá ou mandaria a polícia prendê-lo e, já que ele não tinha mais seu padrinho, que morrera deixando no poder seus adversários políticos, resolveu que sairiam todos os catorze para a Bahia, onde pelo menos haveria uma ponte debaixo da qual pudessem passar a chuva. Demorou, contudo, em vender os dois jegues que ainda tinha, porque todos sabiam que ele estava apertado e ofereciam uma ninharia, que terminou por aceitar. Mas aí já tinha passado o prazo para que saísse do terreno, de forma que a polícia arrasou o barraco, tocou fogo nas roupas e nas esteiras e o levou preso. Na delegacia, apanhou de palmatória nas mãos, nas solas dos pés e na bunda, porque tentou defender-se e xingou o soldado que lhe tomou o dinheiro que trazia, resultado da venda dos jegues. Como a cadeia de Itaparica estava caindo aos pedaços, levaram-no para a Bahia e o puseram no depósito de presos, onde, na primeira noite, foi agarrado por cinco e enrabado por todos eles em fileira, rotina que se repetiu por três noites sucessivas, até que um comissário mandou chamá-lo porque resolvera investigar sua participação num grande furto acontecido na ilha, pouco antes de sua prisão. Apanhou na cara para confessar e já ia admitir a culpa, apesar de não saber direito nem o que tinha sido furtado, quando prenderam o verdadeiro ladrão e o soltaram só de calção, advertindo que, se o encontrassem na rua, o prenderiam por vagabundagem, a não ser que pudesse provar que tinha emprego. Conseguiu fazer um biscate no cais do porto, um companheiro de biscate lhe deu uma camisa rasgada, passou a dormir debaixo de uma marquise no Guindaste dos Padres. Terminou entrando para o serviço da estiva, começou a trabalhar, de manhã, de tarde, de noite, domingos e feriados sem reclamar, até o dia em que um capataz foi chibatear um carregador preto que não queria levar na cabeça um engradado de ácido muriático porque um dos frascos tinha quebrado e vazado e ele, ao protestar, foi também ameaçado com a chibata. Não aceitou o castigo, surrou o capataz, foi defendido pelos companheiros mais chegados, terminou aproximando-se de um colega muito calado e de olhos exaltados, que lhe mostrou exemplares velhos de um jornal chamado Terra Livre, feito em São Paulo. Falou-lhe de muitas coisas que desconhecia, contou que era possível resistir não só ao que o capataz fizera, como a muitas outras coisas. Ao contrário do que Teodomiro pensava, o mundo não era assim, era assim somente porque os oprimidos não resistiam. Havia lugares no mundo onde pessoas como eles eram respeitadas, ganhavam decentemente, tinham direitos assegurados, podia acreditar. Teodomiro duvidou muito de que ele estivesse contando a verdade, pois não podia imaginar um mundo em que as coisas fossem diferentes, então havia vários mundos? Mas, pouco a pouco, lendo laboriosamente os jornais que seu amigo lhe mostrava, foi começando a acreditar que de fato não era tão natural assim tudo o que lhe tinha acontecido e ainda acontecia. Ouviu contar com grande maravilhamento a respeito de companheiros seus de lugares distantes, já empenhados nessas lutas. Orgulhou-se de ter esses
companheiros, de ser também companheiro de alguém, interessou-se em ouvir o que eles faziam. Enquanto se juntavam em torno do fogo, na cafua em que moravam, coberta de folhas de flandres e empoleirada nas fragas do Unhão, ouviu que os cocheiros de bondes do Rio de Janeiro uma vez pararam os bondes e enfrentaram as armas da Polícia para não serem humilhados. Ouviu as histórias dos ferroviários da Sorocabana, da greve dos operários do Rio, da greve da Great Western no Recife, do desembarque de carvão que a estiva do Recife impediu enquanto não melhorassem o pagamento, da greve do gás no Rio, das greves dos ferroviários em Alagoas, na Paraíba, em Pernambuco, das greves no Rio Grande do Sul, das greves em toda parte, das lutas, dos combates, das mortes, dos heroísmos, dos sofrimentos, dos martírios, das mentiras, das humilhações, das torturas, das crueldades. Soube que havia a Liga Operária de Campinas, soube que havia a Confederação Operária Brasileira, soube que tinha companheiros italianos, alemães, espanhóis, portugueses, sírios, todos brasileiros trabalhadores, lutadores e pisoteados, soube que havia os socialistas, os anarquistas, os maximalistas, os revolucionários. Com lágrimas nos olhos, escutou inteira a história da Revolta da Chibata, chibata igual à que quase achara natural o capataz usar contra um estivador sem eira nem beira. Na história da Revolta da Chibata, tão secreta que jamais será contada fora das cafuas de telhado de flandres das fragas despenhadas da senzala do Unhão, pediu repetições e explicações como criança, teve febre e dificuldade em fechar os olhos ao querer dormir depois de ouvi-las. Vinte e cinco chibatadas, amarradinho no grande navio de guerra Minas Gerais, recebeu o marinheiro Marcelino Menezes, na frente de todos os companheiros, enquanto se tocavam bumbos, caixas e taróis. Por quê? Porque queria reclamar, queria contar que a glória das batalhas navegava em cima da fome, de gente dormindo em pilhas de carvão, de gente morta por não poder respirar nos ocos dos navios, de gente apanhando, de gente humilhada e sem direito a falar, gente de quem ninguém queria saber e não sabia mesmo. E então a grande esquadra do marinheiro João Cândido manobrando no mar como não era possível fazer para quem não fosse branco e estrelado, os couraçados resolvidos a morder em nome dos chibateados, assestando as bocas escuras de seus canhões na direção da grande cidade do Rio de Janeiro, capital da República, que assim pela primeira vez ouviu falar, e ouviu com medo, que nas barrigas dos navios engalanados e lustrosos havia uma espécie de lombrigas ao contrário, homens que davam vida e não tinham vida. Estremeceu quando lhe contaram que prometeram a João Cândido o perdão mas o prenderam e maltrataram, mandaram-no para o hospício e depois de volta à prisão; que arrebanharam marinheiros presos num navio chamado Satélite, fuzilaram-nos e os jogaram ao mar; que mandaram muitos outros para morrer de malária nos seringais do Norte; e que prenderam ainda outros num socavão da ilha das Cobras, onde despejaram cal viva e água para asfixiálos. Foi assim que ele virou primeiro anarquista, depois comunista, chamou os dois filhos que veio a ter de Lenine Antônio, falecido, e Stalin José, trabalhou muito na organização dos estivadores, foi preso diversas vezes, torturado outras tantas, para no fim ser estrangulado por Luiz Marreta, que depois comentou com admiração como seu pescoço era forte, pois não conseguiu estrangulá-lo somente com as mãos, mas precisou de um fio de aço encastoado em dois cabos de madeira, que felizmente tinha sempre por perto para uma eventualidade. — Todo brasileiro é músico! — gritou Aloísio, enquanto a roda de samba saía dançando em direção ao Jardim do Forte.
— Eu sei — disse Stalin José, levantando-se para pegar um copinho de cachaça no bar. — Meu pai era músico.
Não ia ficar ali no bar, sentado com o terceiro copinho de cachaça, esperando o desfile escolar. O cortejo de cretinos, fariseus, puxa-sacos, demagogos e criminosos secretos atrás do Caboclo era uma coisa, o desfile escolar era outra. Principalmente agora que já havia bebido, tinha certeza de que ia sentir vontade de chorar. Não que isso o incomodasse em si, até lhe dava uma alegria estranha, meio pelo avesso. Mas não teria ninguém com quem falar e mesmo os poucos amigos que ainda conversavam com ele na ilha, especialmente os de infância, os mais simples, não entenderiam o que tentasse explicar-lhes sobre sua ânsia incontrolável de chorar, quando via os meninos de Itaparica desfilando nas paradas das datas cívicas. Não tinha mais intimidade com ninguém, acostumara-se tanto a isso que deixara de notar. Curvouse com uma dor fina acima do umbigo, lembrou o que o médico lhe dissera sobre beber álcool: morte certa mais dia menos dia, até de repente, no meio da rua. E não era só coisa de varizes no estômago, era praticamente todo o espandongamento em que se arrastava havia muito tempo, nada funcionando direito num corpo que de vez em quando dava para ratear como um calhambeque a pique de desintegrar-se. Ora, foda-se, não tinha nada que explicar a ninguém, não tinha ninguém que fosse afetar-se por qualquer coisa que lhe acontecesse, só não ia ficar para ver a meleca do desfile escolar, porque a última pessoa diante de quem se permitira chorar como choraria fora Jandira e nem tinha ideia de onde ela andava, nem adiantaria se tivesse. Pegou o livro que trouxera achando que ia conseguir ficar lendo na praça a tomar um pouco de sol, folheou-o distraidamente, apurou a vista para ler as palavras carimbadas em círculo sobre o logotipo da Editorial Vitória. Era uma brochura velha, que só escapara de ter sido apreendida e queimada, no dia em que entraram em sua casa de noite e o levaram encapuzado para um lugar que ele nunca soube direito qual foi, para ameaçá-lo e espancá-lo, porque não estava entre os livros que tinha em casa, fora esquecida em Itaparica. Mas, claro, nem precisava esforçar-se para distinguir as letras desbotadas, era o carimbo da livraria do velho Acúrcio Bastos. De repente lhe veio uma saudade imensa de Acúrcio Bastos e da livrariazinha escondida, tantas vezes fechada, depredada e até incendiada. Mas ele, um mulato magro de cabelos ralos e grisalhos, que nunca sorria embora estivesse sempre bem-humorado, dava um jeito de reaparecer, como um olho de sauveiro que rebrota quando soterrado. E voltava para trás de seu balcão, os óculos na ponta do nariz, as camisas puídas nas mangas e colarinhos mas caprichosamente engomadas, o charutinho único que se permitia depois do almoço, não tanto porque quisesse, mas porque não tinha dinheiro para mais de um, disfarçando a benevolência de continuar a conceder crédito a quem nunca lhe pagava com anotações criteriosas na ficha do freguês, como se se tratasse de um negócio que algum dia fosse envolver dinheiro. Alisou o livro, quase sorriu. Lembrava-se dele, lembrava-se dele, estava em sua mão no dia em que, sozinhos na livraria depois das seis horas da tarde, conversavam sobre literatura e, num impulso tão rápido que quando o notou já lhe obedecia, resolveu desabafar com o velho. Teria sido por isso que esquecera o livro em Itaparica, deixara-o para trás como
que de propósito? — Eu sei como é Dom Casmurro — dissera de repente, e o velho fez uma cara de quem não entendeu. — Não, essa cena, essa cena que a gente estava comentando, essa cena com Escobar morto e o olhar de Capitu para ele. Eu sei como é esse olhar, eu senti isso. Eu vi o olhar de minha mulher para outro homem, não existe nada mais terrível do que isso, não existe nada pior do que esse olhar que a mulher que a gente ama lança a outro homem, porque é a coisa mais verdadeira, a mais involuntária, a mais inegável, a mais indiscutível e, no entanto, a mais intangível. Porque é só um instante, às vezes uma fração de segundo, nada pode ser provado, nada pode ser discutido e aquilo que existiu tão visivelmente, tão poderosamente, passa como um relâmpago no meio de uma conversa e é sujeito a toda dúvida, menos a dúvida da dona do olhar e a de quem ele feriu. Falou com tanta intensidade que o velho tirou a mão da prateleira onde a repousara todo esse tempo, ajeitou-se na cadeira por trás da mesinha, pôs os óculos na testa e o fitou com a expressão de quem sabia que teria de ouvir alguma coisa funda. E ouviu mesmo, porque Stalin José lhe contou como Jandira e ele se amaram, como ela acreditava que ele teria um destino de glória, como enfrentaram uma dificuldade atrás da outra com bravura e dedicação. Até que houve o primeiro olhar, depois que lhe racharam o maxilar durante uma prisão de dezessete meses e ele voltou para casa alquebrado, os ossos amarrados por fios de metal, um trismo eternamente retesado que só lhe permitia alimentar-se através de um canudinho, assim mesmo penosamente, e não deixava que grunhisse de cada vez mais do que uma ou duas palavras de consoantes ininteligíveis. Ela o abraçou, segurou-o enquanto ele sentava devagar na única poltrona que tinham, e então lhe endereçou o olhar, um olhar longo sublinhado pelo riso pálido de quem mostra compaixão, mas não amor. Houve outros olhares, muitos olhares, mas só para ele, nunca para outros, e assim pôde continuar acalentando a esperança de que tudo voltaria ao que era, tão logo as coisas mudassem. Mas as coisas não mudaram, a clandestinidade o deixou fora de casa meses, anos seguidos, os parentes tinham sempre que sustentá-la, e ele não conseguia deixar de sentir vergonha, por mais que fizesse sermões exaltados a si mesmo, de não ter nada, não dar nada, não oferecer nada, de não ser um homem como os outros, que faziam coisas, resolviam coisas, entendiam de transações, ganhavam dinheiro e se divertiam. Por que ele tinha de ser assim, por que ficara assim? Abraçara, afinal, uma religião, um sacerdócio louco? De qualquer maneira, não adiantava especular porque foi gradualmente descobrindo que já não se conheciam e ela tinha frases feitas, pronunciadas monocordicamente para o cumprimento dos rituais petrificados de seu casamento, desde o que lhe falava na cama ao que respondia quando lhe pedia um comentário sobre alguma coisa que fizera. Foi então que houve o mesmo olhar que perfurou o peito de Dom Casmurro, na hora em que, sentados a uma mesa tomando uma cerveja, ela riu de algo que Rogério Lopes, um amigo do casal, tinha dito e, como se seus olhos enganchassem em alguma coisa ao acompanharem a cabeça no movimento do riso, o olhar para o outro aconteceu, um olhar curto mas de duração infinita, um olhar que ele não lembrava jamais ter recebido dela, não um olhar de quem flerta, mas um olhar que instantaneamente a revelava vulnerável ao outro. Recordou como sofreu, o estômago apertado e uma dor no peito que parecia determinada a matá-lo, porque outra coisa o identificava como Dom Casmurro, uma coisa que nunca lhe tinha passado
pela cabeça e que no entanto era clara como água: as feições de seu filho, Camilo Ernesto, eram parecidíssimas com as de Rogério Lopes, até os jeitos de andar se assemelhavam. E então, depois de alguns dias sufocado por essa dor, fez sua maleta em segredo, escreveu um bilhete dizendo que voltaria para pegar seus livros e alguns outros bregueços e foi embora de casa de madrugada. Terminou de contar tudo ao velho Acúrcio, notou que estava afogueado, suando muito na testa, arfando em vez de respirar. Olhando para o chão, agradeceu ao velho por ouvi-lo com tanta paciência, pediu desculpas por lhe ter contado história tão banal, que não podia ter importância para alguém que se dedicava a uma causa superior como ele, até já devia esperar que isso acontecesse, a militância envolve muitos sacrifícios e aquele nem poderia ser considerado dos maiores, diante dos sofrimentos de muitos outros companheiros. Levantou o rosto esperando ouvir alguma resposta e viu que o velho o olhava com uma ternura que jamais surpreendera em sua face e uma lágrima lhe escorria lentamente de um olho. Stalin José abraçou-o, beijou-o no rosto e saiu sem olhar para trás e foi a última vez em que esteve com Acúrcio, o bom amigo com quem nunca se encontrara fora da livraria e cuja memória agora lhe chegava tão vívida, diante de um livro velho de comunista velho, que segurava no colo na Praça da Quitanda. Um foguete chiou, subiu, explodiu em três bolinhas de fumaça por cima da torre da Matriz. Segurando o quarto copinho de cachaça, Stalin José caminhou até a esquina da rua Direita e descortinou ao longe o desfile escolar se aproximando, uma baliza de seus doze anos à frente dos tambores, de malha branca, saiote e chapeuzinho de papel verde e amarelo. Era tarde para ir embora, tinha que ficar para ver. E por que tinha de ficar, qual a razão? Já não via razão para nada, já sentia a mente indiferente e amorfa como clara de ovo batida, já não fazia sentido nada do que uma vez fizera, tantas coisas, tantas visões, tantas palavras, provocação, agit-prop, camarada, organização de base, aplausos dados com estalos de dedo para não fazer barulho, terrorismo, trotskismo, revisionismo, linha albanesa, culto da personalidade, luta armada, burguesia nacional, campesinato, lumpemproletariado, feudalismo, capitalismo, autocríticas, reeducação, maoismo, guerrilha urbana, expurgo, paraíso socialista, madrugadas frias pixando paredes, tarefas, comunicações ao plenário, pequena burguesia, a vida é a forma natural da existência dos albuminoides, ¡no pasarán!, a História até aqui conhecida é a história das lutas de classe, plebeu contra patrício, escravo contra senhor, proletário contra... — e Stalin José, tonto não sabia se da cabeça, se da loucura que espadanava seus miolos fofos, se da vontade de voar que lhe tomava conta dos braços, surpreendeu-se de queixo tremendo, beiços descontrolados, olhos se enevoando, no instante em que a balizazinha, com a malha mal cerzida em dois buraquinhos na cintura, passou à sua frente de rosto erguido para o sol e altivez no porte, levantando as perninhas finas e rodopiando no ar o bastão enfeitado com as armas e cores da República. Ele ia chorar, ia ter de correr para um canto como um morcego que se esconde da luz, ia ter de ficar de novo sem entender direito por que chorava sem poder mais nunca parar? Atrás da baliza, duas faixas, a carregada pelas moças pretas que nunca saberiam como eram lindas nem acreditariam se lhes dissessem — A DENODADA VILA DE ITAPARICA SE ORGULHA DOS HERÓIS QUE DEU AO BRASIL — e a carregada pelos rapazes, um de dentes reluzindo, outro sério e de
olhos no céu, batendo forte o pé no chão a cada pancada do surdo que marcava o passo da parada — POVO DE ITAPARICA, ORGULHAI-VOS DE VOSSOS IRMÃOS DE NORTE A SUL. Ia ter de chorar, ia ter de chorar? Como podiam eles, aqui ignorados e desprezados, levantar a cabeça de tal forma, não porque os tivessem ensaiado, mas como se soubessem alguma coisa que ninguém mais sabia, exceto um velho comunista bêbedo, arrependido e não arrependido, exceto aquele sujeito cambaleante de quem uma senhora se afastou quando ele veio para perto dela para encostar-se no oitizeiro, exceto aquela pessoa antes do tempo velha, nada, nada, nada, Stalin José! Chorando sem se preocupar em cobrir a cara ou esconder-se como antigamente, olhou as cabecinhas circundadas de papelão verde e amarelo, tapou os ouvidos para não ouvir os tambores que marcavam os passinhos curtos das crianças do orfanato das freiras, adivinhou que estava com um cartucho de dinamite aceso na barriga, teve certeza de que ia morrer, imaginou que também estava com um chapéu daqueles na cabeça, que de repente podia abraçar-se com seus conterraneozinhos e beijá-los e dizer-lhes que os amava, os amava! —, ele os amava tão fundo que ao vê-los assim podia até acreditar em Deus, pois que lhe dera a melhor morte a que podia aspirar. Morreu junto ao oitizeiro que ainda tinha a gradinha do tempo em que Bico de Bule foi prefeito, vomitando tanto sangue que a terra em torno da árvore ficaria escura por vários dias. Ainda o levaram para o posto médico para ver se a auxiliar de enfermagem conseguiria fazer alguma coisa, mas já chegou morto. Não fossem a cordura, a bondade inata e o sentimento de solidariedade do povo brasileiro, capaz de perdoar qualquer coisa, talvez não tivesse nem caixão e fosse enterrado embrulhado num lençol, pois no quarto de pensão onde morava nada de valor foi encontrado, apenas alguns livros sebentos, algumas roupas, uns retratos fanados, umas anotações ilegíveis, uma caixinha de costura e outra cheia de remédios, uma carta antiga assinada por um tal Camilo Ernesto, a qual terminava com as palavras “eu nunca tive pai”. Levaram os livros para a biblioteca, que os recusou e os jogou fora por deverem ser material subversivo, deram as roupas às freiras e atiraram o resto fora, com exceção das caixinhas, que Leovigildo da Pensão encheu de maravalhas e aproveitou como ninhos para duas galinhas chocas que tinha no quintal. Mas todos se compadeceram, porque o coitado, pensando bem, nunca havia feito mal a ninguém, e até Ioiô Lavínio, que se queixou de que aquela morte tinha estragado o feriado, fez questão de doar uma certa quantia para o funeral e comparecer ao sepultamento. Na subida do cemitério, cumprimentado por sua generosidade para com quem não obrara por merecê-la, disse que nem tocassem no assunto, agira no espírito da caridade cristã, pois o extinto, apesar de ter sido um mau brasileiro, filho de outro mau brasileiro, no fundo não passava de um idealista desorientado e, afinal, era mesmo seu parente distante, como, aliás, se se fosse verificar bem, todo mundo ali na ilha também era.
20
São Paulo, 25 de maio de 1972.
Entre abogados te veas é realmente a praga definitiva, uma obra-prima de concisão e perversidade, a que somente um tolo preferiria expor-se em lugar de outras, à primeira vista piores mas infinitamente mais brandas, tais como “vá para o inferno” ou “que passes o resto da vida comendo comida baiana”. Aprendera-a com um mexicano que conhecera em Nova Iorque e que ficara seu amigo durante algum tempo, até perder mais de oitenta mil dólares numa roda de pôquer por ele mesmo inventada. Não tivera pena, jogo é jogo e o pior que aconteceria ao mexica seria passar dois dias sem cheirar cocaína, enquanto o pai não lhe conseguisse contrabandear mais dinheiro. Mas ele sumira depois do jogo e agora seu vencedor, o Dr. Eulálio Henrique Martins Braga Ferraz, descendente do legendário banqueiro Bonifácio Odulfo Nobre dos Reis Ferreira-Dutton por via da união de sua filha Isabel Regina com José Eulálio Venceslau de Almeida Braga Ferraz, de poderosa família paulista, recostava-se na poltrona sueca de seu vasto escritório e suspirava com a certeza de que o mexicano não se limitara a ensinar a praga, mas também a rogara. Não faria outra coisa na vida do que lidar com advogados, cada qual mais sinistro que o outro, escrevendo numa língua cheia de construções tortuosas e acenando com perspectivas negras se isso ou aquilo não fosse feito? Advogados do banco comercial, advogados do banco de investimentos, advogados da financeira, advogados do holding agropecuário, advogados da seguradora, advogados da família, advogados, advogados, advogados, um mar de advogados, datas vênias, ipsofactos, inlímines e subjúdices capaz de destruir o equilíbrio mental de qualquer um. É, o mexicano lhe rogara mesmo a praga, depois de perder os oitenta mil dólares e sair pálido da suíte do New York Hilton onde o jogo tinha sido realizado. Bonito blefe, ganhara o jogo na ficha, pusera o irmãozinho marrom do Norte para correr. Em troca, los abogados. Olhou para o relógio, suspirou outra vez, arrependido por ter convocado o Dr. Chagas Borges para explicar-lhe as complicações jurídicas que adviriam do pretendido casamento de seu primo, que chamava de tio por ser muito mais velho, Luiz-Phelippe Ferreira-Dutton Filho, caçula do irmão de sua avó Isabel Regina. Nunca conseguira entender direito as relações de parentesco para além de primos e cunhados, e a confusão piorou muito com a explicação interminável do Chagas Borges, que falou durante mais de uma hora sobre agnatos, cognatos, putativos, germanos e outras barbaridades incompreensíveis, para acabar concluindo que teria de examinar o assunto mais detidamente para dar um parecer, não havia ramos mais complexos do Direito Civil do que Família e Sucessões. E tudo para responder ao que deveria ser uma pergunta relativamente simples: quais as consequências do amalucado casamento de seu tio Luiz-Phelippe, a esta altura da vida com seus sessenta e cinco anos, sobre a segurança patrimonial da família? Pronto, era só isso. Os meninos de Luiz-Phelippe, o Luiz-Phelippe Neto, a Sílvia e a Henriqueta — quer dizer, meninos não tanto assim, pois Henriqueta, a mais nova, já devia estar chegando aos trinta —, estavam preocupados, preocupadíssimos mesmo,
tinham pedido a ele pelo amor de Deus que interferisse. O velho já devia ter se acostumado a viver sozinho depois de doze anos de viuvez, para que diabo ia casar? Não tinha tudo o que queria, não fazia tudo o que queria, não vivia sem trabalhar a vida que pediu a Deus? Casar então para quê? E logo com quem! Com uma viúva baiana metida a Calmon, na verdade fazendeira amulatada e arruinada de origem duvidosa, que agora tinha achado esse encosto e deixado o velho completamente cego, completamente destituído de razão. O Eulálio tinha de interferir, tinha que falar com o Luiz-Phelippe, ele o acatava muito. Todos os três vinham fazendo oposição cerrada, mas não estava adiantando nada e talvez só o Eulálio, a pessoa de maior prestígio da família, a de maior responsabilidade, conseguisse trazer o velho de volta à normalidade. Para culminar tudo, o tio Luiz-Phelippe lhe telefonara também, dizendo que viria a São Paulo para conversar com ele, pedir-lhe ajuda na solução de um problema delicado. Claro que era o mesmo problema e ele agora se via envolvido nos dois polos dessa fofoca de família com a qual não tinha nada a ver. Fazia muito que o lado carioca da família se vinha desligando dos negócios, com exceção do primo Aloísio Henrique, filho de Amleto Henrique, o irmão mais velho do tio Luiz-Phelippe. Aloísio, quando não estava no Jockey, dirigia a corretora no Rio. Os outros ou viviam de rendas ainda bastante consideráveis ou se metiam em outras coisas, ele nem se lembrava direito do nome dos primos em segundo grau — ou seria terceiro? Um era arquiteto. O Luiz Eugênio, filho do tio Bonifácio Vicente, era bicha e morava em Paris, a Henriqueta vivia casando e descasando, a Sílvia casara com um americano e fora morar em Detroit, depois se divorciou e agora andava metida em teatro no Rio, e assim por diante. Portanto, não tinham nada que envolvê-lo nisso. Por mais que o velho estourasse o que tinha, inclusive suas participações no grupo, isto não faria nenhuma diferença, era uma gotad’água que não interessava nem como tópico de discussão. Sim, mas, por outro lado, existem obrigações afetivas, obrigações de família mesmo. É necessário manter o senso de família, o senso de estirpe. Pegou de novo o estudo sobre os Ferreira-Duttons feito pelo British American Institute for Genealogical Research, que estivera mostrando ao Chagas Borges, na esperança vã de que ele calasse a boca. Os gringos sabem fazer as coisas, nunca que uma coisa dessas ia poder ser feita, com esta categoria, no Brasil. Era somente parte do estudo encomendado pelo tio Bonifácio Vicente, que lhe emprestara um dos dois exemplares recebidos. O resto ainda estava sendo completado, mas a conhecida impaciência do tio Bonifácio fez com que ele pedisse que organizassem num álbum o material de que já dispunham e ali estava o resultado. Uma pequena história da família escrita em inglês muito elegante, retratos de ancestrais e pessoas ligadas à casa, diagramas mostrando relações de parentesco. Abriu na página onde se estampava o retrato do primeiro dos Ferreira-Duttons, Amleto Henrique Nobre Ferreira-Dutton. Extensa biografia. O nome Dutton, na verdade, devia ter sido originalmente Hutton, atribuindo-se a discrepância à grafia confusa das letras maiúsculas na época e ao mau estado de conservação dos documentos pesquisados. Admitindo-se isto como o mais provável, pode-se traçar a linhagem a George Hutton, mais tarde Sir George Hutton, de uma família aparentada com a casa de Windsor por via da duquesa de Kent, que veio ao Brasil porque desejava, por espírito de aventura, ter uma fazenda nos trópicos. Aqui conheceu uma moça, possivelmente Ana Teresa Rawlings Ferreira, filha de mãe inglesa
católica, descendente de landed gentry, e pai brasileiro, herdeiro primogênito do visconde de Casa Alta. Essa parte da história foi a mais difícil de verificar, dadas as circunstâncias em que se passou, pois a verdade é que Ana Teresa engravidou de George Hutton sem estar casada, o que, diante dos preconceitos da época, foi considerado uma verdadeira calamidade, abafada apenas pelo grande prestígio da família dela. Uma carta encontrada pelos pesquisadores, de leitura difícil porque a escrita está apagada em vários pedaços, dá razões para crer que, pouco antes do parto, George Hutton, que não sabia da gravidez por encontrarse em viagem ao Grão-Pará, casou-se com Ana Teresa, que morreu ao dar à luz o menino Amleto criado amorosamente pelos avós depois que o pai foi convocado ao serviço de Sua Majestade, na Inglaterra. Daí para a sociedade com o barão de Pirapuama, o talento que salvou os negócios semiarruinados do barão, a casa bancária, ta-ta-ta, ta-ta-ta, tudo história já conhecida. Olhou para o retrato do trisavô, sisudo, colarinho alto, pescoço empertigado, sobrancelhas cerradas. Branco que parecia leitoso, o cabelo ralo e muito liso escorrendo pelos lados da cabeça, podia perfeitamente ser um inglês, como, aliás, quase era, só faltou nascer na Inglaterra. Traços nórdicos visíveis. Como seria ele no trato, que voz teria? Evidente que era desses velhos caturras, poços de honestidade e austeridade, o que, se tinha aspectos positivos, certamente o atrapalhou muitas vezes nos negócios, porque gente como ele, excessivamente apegada a princípios e escrúpulos, tende a agir dentro de uma linha de conduta muito rígida, preferindo perder dinheiro a violar seus padrões éticos. Sim, devia ser um velho chatíssimo, mas uma figura interessante, um homem que não podia deixar de fascinar. Bonifácio Odulfo, o bisavô, Henriqueta, a bisavó. Ele parecia com o pai, o mesmo jeito severo, carrancudo até. E ela, a doçura em pessoa, via-se que era uma pessoa sensível, certamente abafada pela vida reclusa imposta à mulher naquele tempo. Sorriu para a bisavó, teve uma espécie de nostalgia pelo tempo das mucaminhas e das casas-grandes, uma época simples, pura, sem a violência de hoje em dia, sem as pressões que hoje mantêm os homens em permanente tensão. Que diria a bisa, se testemunhasse o comportamento de suas descendentes, das mulheres atuais em geral? Riu de novo. Coitada, provavelmente acharia que estava em Sodoma e Gomorra, preferiria voltar para o túmulo. E o general aqui ao lado? Homem bonito, de rosto estranhamente suave para quem pintou o diabo na guerra do Paraguai e era conhecido como esquentado. Com quem parecia mais? Devia ter puxado aos parentes da mãe, a algum árabe escondido entre os ancestrais da velha Teolina, durante o tempo dos mouros na Península Ibérica. Daí essa pele trigueira, essas feições bonitas mas duras, diferentes dos traços finos dos outros. Apesar disso, lembrava um pouco o monsenhor. O monsenhor... — Dr. Eulálio, com licença — disse uma voz de mulher no interfone. Devaneava tanto que demorou a compreender quem o chamava. Largou o álbum aberto em cima da mesa, curvou-se para o aparelho um pouco irritado. — Que foi, D. Shirley? — O Dr. Luiz-Phelippe acaba de chegar. — Ah, mande-o entrar.
Diabo, nem tinha preparado uma estratégia para o encontro, devia tê-lo feito. Mas também nem decidira que partido tomar, não conhecia a noiva do tio, não sabia nada. Mas achava justo que os meninos se preocupassem, afinal no fundo não sabiam fazer nada e estavam acostumados a viver bem, era natural que a perspectiva do casamento os deixasse inquietos. Bem, dançaria conforme a música, improvisaria, veria o que podia fazer pelos meninos sem se comprometer demais. — Dr. Luiz-Phelippe, mas que alegria! Como vai? Está cada vez mais jovem! — Você acha? — respondeu Luiz-Phelippe, o rosto gordinho muito alegre. — Você sabe que eu também acho? Então, como vai? Abraçaram-se, o tio se queixou de ter de usar crachá para entrar no edifício — aliás, que edifício, hem? Sim, não era mais possível ficar na velha sede, tiveram que construir uma nova na avenida Paulista. E, quanto ao crachá, o tio sabia muito bem dos problemas de segurança. Mesmo com o controle mais rigoroso, não haviam jogado uma bomba na fábrica de Osasco? É, haviam, haviam, coisa horrível, hoje em dia não se pode mais confiar em ninguém. Mas fazia quanto tempo que não vinha a São Paulo, hem? E a Guida, como vai? — Estava olhando os retratos da família? — perguntou, dando com o álbum em cima da mesa. — Estava, estava. Você conhece? É interessante. — Conheço, o Boni me mostrou. Que cara tinha o monsenhor, hem? Você não acha que ele tinha uma cara safada, não? — É, assim meio safada, meio marota, é verdade. — E ele era! Você nunca ouviu as histórias sobre ele, não? Passava aquelas beatas todas! Dizem que ele tinha um apartamento por trás da sacristia de uma igreja lá na Bahia, onde administrava orientação espiritual às beatas. Agora, sinta o mobiliário desse apartamento: uma cadeira, um armariozinho e uma cama! Ha-ha! Olha a cara dele! Não duvido que a gente tenha uma porção de primos, assim meio eclesiásticos, lá na Bahia. — Com certeza, e tudo crioulo. — Mulatinhos. — Crioulos. Todo baiano é crioulo. O baiano é que é o responsável por esse negócio irritante de sair dizendo pelo mundo que todo brasileiro tem sangue preto. Já tive até uma discussão com um sacana desses, no Canadá. Falei pra ele: isso pode ser você, que é baiano, come aquelas comidas moles amareladas, tem os dentes estragados e a cara de negroide, eu não! Ah, falei! Eu tinha bebido um pouco — você conhece o bar do Toronto Hilton, o que fica no lobby, perto da piscina? me lembro bem, eu tinha torado uma garrafa de Queen Anne sozinho — e aí fiquei puto dentro das calças quando aquele sacana veio com essa conversa. — Isso é verdade, é o mesmo tipo de conversa que havia antigamente: todo brasileiro tem sífilis. — Eu ainda peguei isso, ainda peguei! Deixei de comer uma americana, quando estava fazendo o mestrado na UCLA, porque um outro sacana, igual ao sacana do baiano do Canadá, disse isso a ela, com cara de quem estava fazendo uma grande revelação. Não dei um pau na cara dele na hora porque estava em Los Angeles e americano põe em cana qualquer um que quebre a cara de outro, mas se fosse aqui aquele baiano ia se dar mal, eu quebrava ele todo.
— Eram todos dois baianos mesmo? Baiano... — Eu sei lá, baiano, cearense, pernambucano, para mim é tudo a mesma coisa, não gosto nem de ver. Quando aparece um falando na televisão, eu baixo o som, não suporto aquela fala lé-lé-lé, lé-lé-lé, como se tivessem um bicho querendo sair da boca. Já ando de saco cheio dessa conversa que anda na moda na imprensa — ainda bem que cada vez eu leio menos os jornais brasileiros — e em toda parte, que foi o nordestino que construiu São Paulo, que construiu isso e aquilo. Construiu porra nenhuma, quem construiu São Paulo fomos nós, foi gente como a nossa família, foi a nossa família que carregou esta merda nas costas, fundou Higienópolis, pintou o caralho. Eu queria ver soltarem uma porção desses paraíbas quando isso aqui era um pouso de tropeiros para ver o que era que eles iam construir. Iam construir aquelas malocas em que eles vivem lá, duzentas igrejas e uma porção de tendinhas de vender aquelas comidas amarelosas nojentas que eles comem, isso é que eles iam construir. Por que não construíram lá, nesse caso? Se você disser que esses carcamanos ajudaram, vá lá. Os japoneses, vá lá. Até os turcos eu admito, embora a maior parte seja de ladrões, assim como os judeus, que não fazem nada de produtivo, ficam com aquele comércio sempre de ar clandestino. Mas essa conversa de que o nordestino é que construiu eu não aceito. Pegou no tijolo, mas isso não é construir, isso é a parte menos importante, qualquer um pode fazer isso e é por isso que eles fazem. Nós estamos dando é emprego para eles, isso sim, a troco de estarem transformando São Paulo numa espécie de feira de baiano, com preto em tudo que é canto e aquela música insuportável até nas rádios que antigamente só tocavam música decente. — Você fica exaltado quando fala nisso, hem? — Fico, fico mesmo! Esse tipo de valorização de gente sem a menor qualificação, esse negócio de enfatizar o papel dos peões no desenvolvimento, na produção, enfim, esse negócio já está indo longe demais e as consequências estão aí, estão em toda parte. Pergunte a quem lida com metalúrgicos, pergunte ao Nino, pergunte ao Alfredo, pergunte ao Cazzarelli, que já está arrancando os poucos cabelos que lhe restam, você precisa ver a arrogância dos caras, parece que os donos das fábricas são eles. Que é que eles querem mais, já têm as leis trabalhistas mais incríveis do mundo, que só no Brasil é que se pode admitir! Não se pode botar um sacana desses pra fora, que ele vai para a Justiça do Trabalho e toma tudo do patrão, para não falar na carga previdenciária, que todo mundo vive dizendo que cai nas costas deles e cai é nas costas das empresas, como qualquer empresário pode mostrar na ponta do lápis. Se você souber da carga tributária, previdenciária e trabalhista que as empresas aguentam, o queixo cai, é absolutamente inacreditável. E a burocracia? Todo dia se inventa alguma coisa nova, todo dia é preciso contratar um advogado novo, para entender a barafunda burocrática que eles criam. Por que não resolvem logo se esta merda é livre empresa ou socialismo? Agora, ficar assim é que não pode! Se for socialismo, tudo bem, eu me mando, a depender do caso. Mas assim como está é que não pode. — Mas a situação me parece bastante sob controle no momento. O Governo... — Não está nada sob controle! A própria censura à imprensa é furada, eles passam o que querem nas entrelinhas! Decreta-se, com aprovação do Congresso e tudo, quer dizer, conforme o figurino, tudo legal, decreta-se a censura prévia a livros, que é a consequência coerente da censura à imprensa. Se vai censurar, não pode deixar brechas, senão tudo vira
palhaçada. Muito bem, aprova-se a lei e só porque o Jorge Amado, que — atenção! — nunca deixou de ser comunista e no entanto vive aí solto, recebido por todo mundo — e o Érico Veríssimo, que deve estar gagá e também devia ser preso por desafiar a lei e desacatar a autoridade, essas duas peças, que nunca fizeram nada a não ser escrever romances, uma coisa que não acrescenta nada, não informa nada e lê quem tem tempo para jogar fora, essas duas figuretas vêm a público e dizem, com a maior cara de pau, que não submeterão os livros deles à censura prévia e não acontece nada e tudo fica por isso mesmo e a lei vira letra morta. Aqui tudo é assim, é no deboche, tinha que botar esses dois caras na cadeia, é por essas contradições que não acredito no regime. Não decretaram a pena de morte? Não condenaram um cara aí? Muito bem, quanto você quer apostar que, na última hora, não vão executar o cara e, se duvidar, com o passar dos anos vão terminar dando uma condecoração a ele? Quer apostar que não executam? Aposto uma caixa de Chivas contra uma garrafa sua que não matam o cara. Quer apostar? — Você diz que não executam. — Exato. Eu digo que não executam e você diz que executam. — Está certo, eu digo que executam. Para mim essa caixa de uísque está no papo, os milicos acertam esse cara de qualquer jeito. — Você vai ver. — Bem, se executarem, nós tomamos um porre de caixa. Se não executarem, tomamos um porre de garrafa, tudo bem. Calmo outra vez, o Dr. Eulálio notou que o tio estava procurando uma oportunidade para tocar no assunto que o trouxera a São Paulo, porque agia como se estivesse conversando sobre outras coisas apenas para não ser descortês. Pediu-lhe então que sentasse numa das poltronas do conjunto estofado de couro perto da janela panorâmica, perguntou se não queria beber alguma coisa, afinal já estavam quase na hora do almoço — almoçariam juntos, não? Então, o drinque? Foi até o bar, tirou gelo de um balde térmico, perguntou se o tio também gostava de uísque em copo pequeno, comentou que em copo colorido ou copão grosso o uísque muda de gosto. Servidos os dois, sentou-se finalmente e ouviu a história de LuizPhelippe, que começou desde o dia em que perdera sua inesquecível Cizinha, fazia doze anos. Discorreu sobre as noites de solidão, a indiferença dos filhos, a inconstância dos amigos e a futilidade da vida social, que continuava a frequentar mas que lhe dava até nojo pela hipocrisia e pelo vazio das pessoas. Então conhecera a Maria Dulce, uma mulher extraordinária, de uma profundidade e de uma cultura como jamais vira em outra mulher, tudo isso combinado com uma beleza madura e sensual, com um caráter extraordinariamente firme — nem sequer aceitava que lhe desse presentes muito caros! —, com uma doçura que seu nome confirmava, uma mulher perfeita. E — não diria isso se não se tratasse de Eulálio, parente e amigo tão chegado, tão de confiança —, como se davam bem na cama! Modéstia à parte, não tinha necessidade nenhuma de se gabar, não diria isso, não diria mesmo, se não se tratasse da pura verdade, mas sempre fora um homem muito disposto para o sexo e a realidade é que nunca tinha broxado, nem uma só, uma única só, uma vezinha que fosse, podia ser a pior mulher, uma velhota com tantas pelancas despencando pelas virilhas que não se visse a xota, uma preta dessas bem pretas mesmo, uma putinha da Lapa, podia ser qualquer coisa, que ele não tinha problema, era uma sensibilidade especial para o sexo que ele tinha e, graças a Deus,
uma saúde de ferro, apesar dos excessos. Mas, mesmo levando em conta esses fatos, o entrosamento entre Maria Dulce e ele era uma coisa que nunca havia experimentado antes. Não dissera o próprio Eulálio que o achara mais jovem? Pois estava mesmo, inclusive porque a idade, ninguém se engane, é um estado de espírito, uma disposição psicológica acima de tudo! Muito bem, agora que queria casar, os meninos, a quem Maria Dulce fizera tudo para agradar sem resultado, montavam uma oposição tão terrível que só vendo para acreditar. Qual a razão para isso? Maria Dulce era uma mulher de posses, tinha muita terra na Bahia, fazia questão de casar com separação de bens, mesmo que a lei já obrigasse a isso, devido à idade dele. Os filhos dela já estavam praticamente criados, eram filhos dela, não dele, não herdariam nada dele. A situação dos meninos seria mantida exatamente como estava, não se pretendia alterar em nada sua condição financeira. Então, qual era o problema, a não ser o preconceito deles? E, afinal, ele ainda estava vivo, o dinheiro era seu e não deles, era ou não era? — Não — disse o Dr. Eulálio. — Quando se tem tanto dinheiro quanto você, o dinheiro nunca é seu. Pode não ser certo, mas é a realidade. Os meninos têm razão em preocupar-se. Segundo a Sílvia, você está até pensando em investir na modernização das fazendas dela. Você não entende nada de fazenda, vai gastar um dinheiro louco e pode quebrar a cara. E aí como é que ficam os meninos? — Mas eu não posso investir meu dinheiro do jeito que eu quero? E se eu quisesse investir de qualquer jeito, mesmo sem casar com ela? — Não, você não pode, você tem responsabilidades. Por que, em vez de casar, você não se junta com ela? É a mesma coisa e evita uma porção de problemas. Você entra num acordo com ela, oferece algumas garantias, faz uma espécie de contrato, eu lhe ajudo se você quiser, tenho bons advogados. — Eu já pensei nisso, mas ela não quer. Fui tocar no assunto uma vez e ela quase acaba comigo, ficou ofendidíssima. — Tio, você quer que eu seja honesto com você? Posso ser honesto com você? — Já sei o que você vai dizer, vai dizer que ela está interessada em meu dinheiro. Eu esperava outra atitude de sua parte, você é um homem vivido, moderno, já podia estar livre desses preconceitos. — Exatamente porque eu sou vivido e moderno é que eu acho que ela está interessada em seu dinheiro. Em seu dinheiro, em seu nome, em sua posição... Mas observe também que, no fundo, toda mulher, mesmo apaixonada, está interessada é nessas coisas mesmo, de uma forma ou de outra. Não estou censurando a posição dela, sou um homem realista. Mas, por ser realista, também não vou desconhecer que ela tem essa motivação, é preciso ver a verdade sem medo dela. O que você tem a fazer é equilibrar os interesses de seus filhos com os dados dessa situação. — Mas como? Uma coisa eu lhe digo: haja o que houver, mesmo contra sua opinião, eu vou casar com a Maria Dulce. — Claro que você vai casar com a Maria Dulce. Mas você não vai investir nada nas fazendas dela.
— Mas eu já prometi, não posso voltar atrás. — Já prometeu? Ela é ligeira, hem? — Você não devia falar assim! — Está bem, tio. Você já prometeu, mas isso não significa que tem de cumprir a promessa com o seu dinheiro. Eu dou um jeito nisso para você. — Você dá um jeito? Como? — Dou um jeito, já lhe explico. Mas primeiro você tem de aceitar a condição de deixar que um advogado da minha maior confiança, o Dr. Chagas Borges, a maior puta velha do foro de São Paulo, professor da USP, cobrão mesmo, você já deve ter ouvido falar nele, deixar que ele elabore as condições prévias ao casamento. Ou seja, deixar que ele elabore um plano que garanta os interesses dos meninos e evite problemas futuros, e isto envolve providências anteriores ao casamento, há muitos recursos legais, não se preocupe. — Mas, para garantir os interesses dos meninos, eu vou ter de desistir da ideia de me associar a ela nas fazendas. — Você não vai ter de desistir de nada. Eu tenho um departamento de projetos de primeira qualidade, tenho gente na Sudene que apressa a tramitação de qualquer coisa que eu queira, tenho tudo nas mãos. Então o que nós faremos vai ser arrumar um pacote financeiro para a titia Maria Dulce, tomando dinheiro de um desses fundos — são tantos que me esqueci das siglas, mas pago a muita gente para não esquecê-las. Que tipo de fazenda tem a tia Maria Dulce? — Sisal. Ela tem terras na área sisaleira. — Grande merda. Mas não tem importância, isso a gente resolve, montamos uma pesquisa de mercado em cima de alguma coisa, instruímos o projeto com material de peso e, mesmo que não seja sisal, seja óleo de mamona, papel de embrulho, caneta-tinteiro, alguma coisa nós achamos, isso não é problema, não é problema, nem pense nisso, isso eu resolvo. Pode ser um pacote relativamente complexo, podemos emitir umas letras de câmbio, fazer os repasses... Deixe que eu cuido de tudo. Confia em mim? — Confio, confio! Mas ainda não entendi direito. — Querido tio Phelippe, o dinheiro existe, não precisa ser seu dinheiro. O dinheiro existe, é só saber o caminho para pôr as mãos nele e é para isso que esta organização toda, cujo edifício você tanto admirou, funciona. Ela tem a terra, deve ter alguma coisa em cima dela, cuja avaliação nós podemos configurar da maneira que melhor servir a nossos interesses, isso é uma coisa simples. Isso não vai custar um centavo a nenhum de nós, pelo contrário, vai até render dinheiro, porque a tramitação financeira não é feita de graça e nós mesmos é que vamos cuidar dela, aqui no banco e nas outras empresas. Há prazos de carência especiais, juros especiais, há tudo isso no meio. As letras de câmbio podem ser baseadas nos mecanismos de juros normais, de operações comerciais normais, mas financiando um projeto pago a custos financeiros muito mais baixos. — Estou sentindo, estou sentindo, você é realmente um gênio. — Sou nada, isto é rotina, todo mundo sabe disto que lhe disse, se tudo fosse isso. Voltando à vaca-fria: você precisa confiar em mim. Eu monto essa operação em que todo mundo vai sair ganhando, você casa com sua Maria Dulce, os meninos não se grilam, tudo fica
perfeito. — Mas eu fico meio assustado. Você mesmo disse que sisal é merda e que eu posso quebrar a cara. — E também disse para confiar em mim, não disse? — Disse, disse. — Pois então? Em primeiro lugar, tenho gente que pode ajudar nesse projeto, na implantação, quero dizer. Isto tudo pode ser perfeitamente pago pelo orçamento da operação, quer dizer, não custa nada, como nada vai custar nada, o dinheiro existe, tio! A única maneira de não quebrar a cara é não meter dinheiro seu nesse negócio, há dinheiro para meter que não é seu, não envolve risco, não ameaça em nada seu patrimônio nem o dos meninos. Hoje em dia, quem mete dinheiro seu num projeto é maluco, é irracional, isso não existe hoje em dia. O dinheiro está lá, foi apropriado para esse fim, é até um pecado deixar de usar as oportunidades como essa. — Ah, quer dizer que você acha essa coisa toda uma oportunidade boa? — Acho, acho. Já lhe disse, deixe comigo. Quando eu estiver com esse pacote econômico-matrimonial arrumado, eu lhe chamo ou então vou ao Rio conversar — tem muito tempo que não vou lá, tem até gente que eu quero ver lá, não sei se você me entende, ha-ha —, pode deixar. Preciso somente de elementos. Assim que você voltar, mande tudo o que se refere às propriedades dela, localização, medições, escrituras, balanços, tudo, tudo, tudo. Vou destacar o Menezes, um cara que eu tenho aqui que é uma fera nesse tipo de coisa, para acompanhar esse negócio. Ele está viajando agora, cuidando de um projeto no Maranhão, negócio de babaçu, que está muito incentivado agora, mas volta dentro de um ou dois dias e passo a ele tudo. Ah, estou com preguiça para lhe explicar os detalhes, mas pode ficar tranquilo, está tudo claro na minha cabeça. O Governo dá dinheiro para se fazer esse tipo de coisa, pode ficar tranquilo. Não tem nada desse negócio de quebrar a cara, quebrar a cara seria meter seu dinheirinho suado numa embaixada dessas, que nunca vai dar certo, a não ser por uma cagada monumental. — Bem, não estou entendendo direito, mas confio em você, que galho você me quebra, fico-lhe gratíssimo! — Ora, parente é para essas coisas. E, como você mesmo disse, sempre fomos amigos. Não vai me dar trabalho nenhum, pelo contrário, será um grande prazer ajudá-lo a ser feliz com a sua Maria Dulce, é o meu presente de casamento. — Você fala com os meninos? — Falo, falo, telefono para a Sílvia ou a Henriqueta ainda hoje, pode deixar. Vou chamar D. Shirley para anotar algumas coisas e depois vamos almoçar, está certo? Mas o tio, muito assanhado com a solução inesperada de seu problema, alegou que não podia, a Maria Dulce tinha aproveitado para vir com ele a São Paulo fazer umas compras e ir a uns restaurantes — ela adorava comida árabe, adorava comida italiana, adorava comer em São Paulo, São Paulo, é preciso que se diga, é onde melhor se come no Brasil —, dar uns passeios. Ela devia estar esperando por ele no hotel e ele ia levar a grande notícia, comemorar, comemorar! Dr. Eulálio compreendeu, o velho queria dar uma trepadinha na Pauliceia, essas mudanças de ambiente são sempre estimulantes. Abraçou-o afetuosamente, levou-o até a porta com a mão em seu ombro, despediu-se com outro abraço, ficou olhando
enquanto ele atravessava a antessala, um sorriso meio alvar no rostinho rechonchudo. Fechou a porta, voltou vagarosamente para sua mesa, com a satisfação cálida de quem praticou uma boa ação. E de quem certamente tinha feito um bom negócio para o banco. Anotou num bloquinho um lembrete para mandar D. Shirley providenciar uma lista completa dos fundos e programas cujos recursos o banco poderia repassar para empreendimentos agrícolas e industriais no Nordeste. E convocar o Menezes para falar com ele assim que chegasse do Maranhão. Puxou o álbum para perto, contemplou longamente o retrato do trisavô. Realmente, estirpe era estirpe, bom sangue era bom sangue, o destino da família tinha que ser aquele, um destino de grandeza, de elite. Teria herdado, através de tantas gerações, o talento do patriarca? Claro que herdara, mesmo porque esse talento passara multiplicado para o bisavô Bonifácio Odulfo, homem extraordinário, empresário muito à frente de seu tempo, inteligência multifacetada, que lhe permitia até mesmo atividades literárias de alto valor, praticadas secretamente nas poucas horas vagas. Curioso que tivesse morrido dos pulmões, como se a doença dos poetas daquele tempo o houvesse alcançado na maturidade. Entrou em devaneio outra vez, só se levantou muito depois, para almoçar no escritório mesmo, porque, com aquela conversa toda e as recordações da família, a avó Isabel Regina, a única vez em que vira o tio Patrício Macário, na festa de seus cem anos, tanta coisa, esquecera, que tinha um discurso importante a fazer na noite seguinte, na Federação das Indústrias. Apesar de o staff já ter escrito praticamente tudo, fazia questão de dar um toque pessoal no pronunciamento, mandar alguns recados, preparar umas carapuças para uns e outros. Não podia falhar, a cobertura da solenidade seria nacional. O almoço, peixe grelhado com molho de limão, salada, um copo de vinho branco alemão, pão de centeio integral e meio mamão, chegou logo, encontrou-o debruçado sobre um bloco cheio de rabiscos e frases emendadas bruscamente. Não levantou os olhos para o copeiro uniformizado que trouxera o almoço, acenou-lhe com a mão para que arrumasse tudo na mesa redonda, perto das poltronas de couro. Tinha bebido nova dose dupla de uísque e talvez por isso estivesse afogueado e veemente, emocionado mesmo, quando dois minutos mais tarde levantou-se para ir até a mesa do almoço, declamando entre dentes o que havia escrito. O empresariado nacional está consciente de suas graves responsabilidades para com a nação e para com o povo brasileiro! Há hoje no Brasil um novo empresário, uma nova mentalidade, uma nova consciência do papel social da empresa, que se reveste de magna importância no Brasil de hoje! Não, não, duas vezes “hoje” e “Brasil”, mudar, mudar. Mas essencialmente estava bom, estava ótimo e deveria impressionar o auditório, principalmente porque eram afirmações sinceras, todos os que o conheciam sabiam disso.
Estância Hidromineral de Itaparica, 10 de março de 1939.
O vapor fretado por D. Isabel Regina saiu de Salvador às sete horas da manhã e devia chegar a Itaparica lá pelas nove, mas a vazante forte e o nordeste batendo rijo retardavam um pouco a marcha do 10 de Novembro, que subia e descia pelas ondas como um cavalinho de carrossel.
Ela se impacientava com a demora, arrependia-se de não ter zarpado com o navio da comitiva, que saíra meia hora antes e certamente devia estar atracando na ilha. Já Eulálio Henrique e Bonifácio Odulfo III, seus dois netos que a acompanhavam na viagem, não queriam chegar, porque toda hora descobriam no mar alguma coisa que nunca tinham visto, cardumes de botos cercando tainhas, peixes voando ao lado do navio, grandes pássaros acinzentados mergulhando para pescar. — Meninos — disse ela, olhando para o relógio —, saiam de tão perto dessa amurada, por que não vêm olhar o mar aqui desta janelinha? — Ah, vovó, daí não tem graça. A gente não está se pendurando, não, a gente só está chegando perto. O menino tinha razão, não havia por que proibi-los de se divertir, viviam ou na fazenda de Itu ou no colégio interno em São Paulo, era uma oportunidade rara para eles e, depois, não existia mesmo risco nenhum na amurada. Não devia descarregar o nervosismo nas crianças. Juntou-se a eles na amurada, mostrou-lhes a costa onde antigamente ficava a armação de baleias do famoso barão de Pirapuama, que de certa forma era parente deles, pois um de seus filhos, o grande banqueiro Dr. Vasco Miguel, casara com Carlota Borromeia, única filha do vovozão Amleto Henrique, irmã do vovozinho Bonifácio Odulfo e do tio-vovô general, a qual tinha morrido de um colapso ainda bem moça — quem sabe, hem, se fosse hoje talvez se salvasse. Os meninos assestaram os binóculos em direção à praia distante, não se impressionaram muito com o que viram, alguns escombros encardidos, um saveiro adernado, duas ou três canoinhas, uma cerca de ossos de baleia semidestruída serpenteando até desaparecer no matagal. — Não tem nada aí — disse Eulálio Henrique. — Não tem nada. Vovó Isabel Regina, lembrando-se de alguma coisa que havia lido na crestomatia e que achara muito instrutiva para os jovens, sobre como ruínas e paisagens aparentemente sem vida são na verdade testemunhas silenciosas da História, carregadas do peso dos tempos, habitadas por tudo o que entre elas já aconteceu, virou-se para o neto levantando o dedo na postura de quem vai dar uma aulazinha. Mas nem chegou a começar a falar, pois quando abriu os olhos, que tinha fechado por um instante para arrumar bem o que queria dizer, deu um grito de horror, porque sobre a cabeça de Eulálio Henrique, adejando molemente como se fosse de gelatina, um bicho preto, talvez um morcego, talvez uma mariposa gigantesca, parecia que ia pousar. O menino, assustado com o grito da avó, passou as mãos por trás da cabeça e o bicho pousou nelas e não saiu, apesar de ele agitá-las desesperadamente, sem conseguir gritar de tanto pânico. Isabel Regina hesitou, levantou a bolsa para bater no bicho, mas demorou por não ter coragem de aproximar-se, dando tempo a que um marinheiro preto e espadaúdo atravessasse o passadiço e, com uma espécie de bastão, tocasse no bicho, que imediatamente esvoaçou, ainda pairou um pouco à frente do grupo e, abrindo muito as asas, planou no vento em direção à praia. — Meu Deus, que bicho horrível! Meu filho, você está bem? Não foi nada, não foi nada, foi só um susto. Ele mordeu você? Deixa ver a mão, não, não mordeu, está tudo bem, foi só um susto. Meu Deus, que bicho horrível, nunca tinha visto um bicho desses! — É a Curuquerê — disse o marinheiro preto, com uma expressão que Isabel Regina
achou desagradável, quase assustadora. — Que é que está fazendo aí parado? — falou ela com energia. — Providencie um copo d’água para o menino, água com açúcar, ande! Abraçou o neto, continuou a consolá-lo, prometeu-lhe um presente, muitos presentes, agora já podia parar de chorar, tudo tinha passado. E, enquanto segurava a cabeça dele junto ao peito, levantou a vista, olhou de novo a praia agora surpreendentemente mais perto e teve um arrepio, porque sentiu vir dela e do matagal, não sabia como, uma espécie de malevolência surda, uma paz apenas aparente, pejada de ameaças invisíveis. Estremeceu, achou que estava ficando muito impressionável, parecia uma criança ingênua. A água com açúcar chegou, trazida não pelo negro estranho, mas por um rapaz que devia ser uma espécie de oficial, muito gentil. Conversou com o menino, perguntou se não podia fazer mais alguma coisa, ofereceu-se para levar os dois a passear pelo navio. Isabel Regina recusou, já estavam chegando e preferia ficar na companhia deles. E, já que ele estava ali, podia dizer que bicho seria aquele que tanto assustara o menino? O marinheiro dissera que era uma curuquerê, ou qualquer coisa assim. Mas o rapaz respondeu que nunca tinha ouvido falar nesse bicho, devia ser coisa de negros. Isabel Regina fez um gesto como quem concordava, resolveu esquecer tudo, prepararse para desembarcar. Já se viam as torres das igrejas, o casario do Boulevard, as árvores da Praça Getúlio Vargas, eles estavam chegando, sim, finalmente, não era sem tempo. A missa seria ainda às dez, eram apenas nove e vinte, mas ela queria descer o mais rápido possível, queria rever uma porção de gente, queria supervisionar pessoalmente os últimos detalhes da festa e queria principalmente ter tempo para estar com seu tiozinho Tico, tão velhinho, coitadinho, embora muito lúcido e desempenadinho para a idade. Cem anos, que beleza! Um homem que tinha vivido momentos tão importantes da História brasileira, tinha conhecido bem o tempo da escravidão, tinha lutado no Paraguai, um verdadeiro monumento vivo. Cem anos de vida, ali na placidez de Itaparica, recolhido a seus estudos, suas plantas, seus bichos, suas manias esquisitas, seus amigos de condição social inferior que lhe davam muita estima entre o povo, suas lembranças, que certamente seriam riquíssimas. Claro que fizera muito bem em movimentar céus e terras para que seu tio tivesse uma festa de cem anos à altura de sua importância e do prestígio da família. Bem verdade que a maior parte dos parentes, morando no Rio ou em São Paulo, iria deixar de participar das comemorações — a missa, a pequena recepção e o almoço íntimo, além da quermesse que ela mandara montar para o povo da cidade, dos foguetes que mandara comprar, da banda de música da Polícia Militar que providenciara e mais algumas coisas que achara apropriadas para as comemorações. Mas, no navio que precedera o 10 de Novembro, tinham ido para a festa autoridades, jornalistas, pessoas das mais importantes da Bahia, seria um êxito completo, mesmo sem a parentela. O mais complicado na chegada foi desembarcar o automóvel que ela fizera questão de trazer para transportar o general de sua casa na rua do Canal para a igrejinha de São Lourenço. A distância era pequena, mas ele certamente teria dificuldade em andar e era necessário um transporte condigno, numa cidade em que só havia um par de calhambeques e uma multidão de burros e carroças. Lembrou-se aborrecida de que o general não aceitara que a missa fosse rezada na Matriz do Santíssimo Sacramento, igreja de importância e tamanho à altura do evento, mas ele lhe escrevera uma carta em que dizia, com letra firme, que só sairia
de casa se a missa fosse na igreja de São Lourenço, quase uma capelinha, um prediozinho pobre e desolado, que os jesuítas construíram para os índios. Sim, mas era preciso respeitar as manias do velho e, afinal, a igrejinha tinha lá seu valor histórico, apesar da pobreza. Não esperou que concluíssem o desembarque do automóvel, recomendou somente que se apressassem e correu pelo ancoradouro de mãos dadas com os netos como se fosse uma menina, mas logo se controlou, ajeitou o chapéu e apenas marchou apressadamente o resto do percurso, sem olhar para os lados para não ter de falar com ninguém e atrasar-se ainda mais. Encontrou o velho sorrindo, sentado numa poltrona de vime e cercado por um grupo numeroso, que o ouvia contar alguma coisa. Correu para ele, abraçou-o, beijou-o, mostrou-lhe os sobrinhos-bisnetos, o Bonifacinho Odulfo e o Eulálio Henrique. O velho riu — mas coitados dos meninos da família, ficam herdando esses nomes horrorosos. A voz dele falhava volta e meia, muitas vezes tinham de chegar os ouvidos a sua boca para escutá-lo, mas de resto parecia muito forte, muito forte mesmo. Quanto tempo, tio Tico querido! Parecia ontem o tempo em que ele morava no Rio de Janeiro e ela ia visitá-lo, não com os netos, mas com os filhos. Como o tempo passava! E que beleza viver cem anos com tal lucidez, tal alegria, tal vivacidade! Quanta coisa vista e sentida, quantas histórias para contar! Falar nisso, e as tais memórias que estava escrevendo, já estavam prontas havia muito tempo, não? — Ah — respondeu o general, com um sorriso quase maroto —, guardei tudo dentro de uma canastra. — Canastra? O senhor disse canastra? Um baú? — Sim, sim, canastra, baú, canastra, não falo grego. Botei tudo dentro de uma canastra. — Que canastra? — Para que você quer saber? Está fechada, não é para ser aberta antes que eu morra. — lh, não fale assim, tio, que pensamento horrível. — Mas é verdade. Que é que você quer, não sou imortal e já estou indecentemente velho, viver tanto tempo é um exagero, uma coisa de mau gosto. — Não acho. Eu mesma queria viver tanto quanto o senhor. — Não diga bobagens. Depois de uma certa idade, a vida parece... Mas ela nunca soube com que a vida parece depois dos cem, porque a festa explodia dentro e fora de casa, com foguetes, dobrados executados pela banda, gente entrando e saindo, abraços, cumprimentos, vivas. Levantando-se para ir para a missa, o general insistiu um pouco em caminhar, mas acabou concordando que seria cansativo e lento demais e aceitou ir de automóvel, no qual entrou debaixo de aplausos e chuvas de pétalas de flores. Com a banda, agora formada à porta da igrejinha, rompendo em rufos e clarins à sua entrada, o general desceu sorrindo, fez uma continência aos músicos e acenou para o povo aglomerado desde o Largo da Matriz à Praça da Quitanda. A missa teve música de um quinteto de cordas do Rio de Janeiro acompanhando um soprano e um barítono e foi celebrada pelo bispo auxiliar, cujo longo e erudito sermão recebeu a qualificação de verdadeira aula de História e oratória sacra declamada em tons de glória, enquanto o general, sentado no banco da frente, dormia ressonando de leve, um sorriso parecendo esboçar-se em seu rosto. De volta à casa, tanto D. Dalva, sua enfermeira e governanta, quanto Isabel Regina
quiseram que ele descansasse, fizesse uma refeição desengordurada e dormisse até o meio da tarde, quando então reapareceria para despedir-se dos convidados e conversar mais um pouco. Mas ele respondeu que não tinha a menor intenção de concordar com isso, mesmo porque já dormira magnificamente fazia pouco, na oportunidade proporcionada pelo excelente sermão de D. Ludovico. Sentou-se na mesma poltrona de vime em que estivera antes, brigou com as mulheres da casa porque não quiseram trazer-lhe uma lapada de cachaça e a muito custo aceitou um copinho de clarete, que bebeu aos golinhos, classificando-o de xarope azedo. Perguntou o que havia para o almoço e, quando lhe disseram de toda a comida que tinham preparado para os convidados, reclamou que nem no dia de seus cem anos lhe davam a oportunidade de não comer daquelas papinhas abomináveis que sempre lhe obrigavam a engolir. Começou a fazer uma palestra engraçada, com gente sentada até no chão para ouvi-lo, a respeito de uma curva que ele havia traçado para a vida humana e como era curioso que tudo fosse realmente circular e o homem, por muito velho, retornasse à infância, não só em sabedoria como nas restrições que essa sabedoria provocava da parte dos adultos, que monopolizam a sabedoria, mas, como sabem que ela é tão falsa quanto qualquer outra, têm medo da falta de compromisso da extrema juventude ou da extrema velhice e então proíbem que meninos e velhos façam ou até digam qualquer coisa que ameace suas convicções. — Que pensamento! — disse um dos circunstantes, entre graves acenos de cabeça dos demais, mas o general deu um muxoxo e respondeu que não era nada disso, era uma coisa sabida e repetida desde que o mundo é mundo, que apenas adquiria um certo peso quando quem a dizia era alguém de cem anos. Ficou em silêncio algum tempo, sorriu, ficou sério outra vez, cruzou os braços. — Eu pensei em lhes contar umas histórias — falou, a voz mais baixa do que antes. Um menino que o fitava intensamente, parecendo ao mesmo tempo prestes a chorar, correu lá para dentro, chamando mais gente para ouvir as histórias do general, o general ia contar histórias, que histórias ele não teria para contar! Mas o general, baixando a cabeça como se estivesse olhando para alguma coisa dentro de si, disse que não, que apenas pensara em contar histórias, pois sempre soubera que não as contaria, nunca contaria histórias, isso fariam outros, sempre haveria alguém para contar histórias. Ele queria — continuou falando, a voz cada vez mais tênue — dizer alguma coisa sobre o povo brasileiro, pois que aprendera muito com o povo brasileiro, sabia do povo brasileiro. Mas não podia falar sobre isso, porque isso era uma vida, e uma vida só se pode viver, não contar. Queria também partilhar alguns segredos, sabia também de muitos segredos. Mas não podia contar nenhum desses segredos, porque sua condição secreta não estava em que fossem mantidos ocultos à custa de sanções. Nada disso, eram de certa forma segredos por sua própria essência, serem segredos era parte de sua natureza, serem segredos, por outro lado, não dependia deles, dependia de quem os descobrisse. Não adiantava, assim, revelá-los porque, mesmo revelados, não deixariam de ser segredos, ninguém ali saberia a maneira certa de acreditar neles. Gostaria também de dizer que estava feliz, mas não estava, não por si, mas por eles. Por si só, estaria feliz, mas isso naturalmente não é possível. Não estava feliz, porque fazia cem anos e o povo brasileiro ainda nem sabia de si mesmo, não sabia nada de si mesmo! Compreendiam o que era isso, não saber de si mesmo? Não, pensavam que compreendiam, mas não compreendiam e ainda sofreriam muito antes de compreender, por isso ele não estava
feliz. Não estava feliz nem mesmo com o ofício que escolheram por ele mas depois se tornou parte sua, isto porque jamais tinha conseguido ser um soldado brasileiro — quase gritou, com a voz, apesar de sumida, tremendo de emoção —, um verdadeiro soldado brasileiro, um soldado do povo, um soldado com o povo, um soldado que não mande no povo mas seja parte do povo, um soldado que não mate o povo mas morra pelo povo, um soldado que mereça a estátua, a lágrima, a lembrança, os corações, um soldado que não odeie mas ame, um soldado que não queira ensinar mas aprender, um soldado que se envergonhe diante da fome e da opressão, um soldado que se envergonhe de ser policial do governo contra o povo, um soldado que não esbanje inutilmente sua bravura, lutando em vão, morrendo em vão e, o que é pior, matando em vão, combatendo contra si mesmo, dando a vida para que seu povo continue a perdê-la. Mas não conseguira ser esse soldado, por mais que o fosse, como muitos outros antes ou depois dele não conseguiram, conseguiram apenas sofrer muito, geralmente num silêncio mais doloroso que as feridas das guerras. Chegaria o dia em que os soldados estariam tão distantes do povo que teriam de viver desmentindo essa distância, sem convencer ninguém? O dia em que teriam medo de sair à rua fardados, a não ser a serviço? Não, medo não, porque têm poder, muito mais poder do que deviam ter, não teriam medo nenhum. Vergonha? Sim, vergonha sim, não propriamente da farda, porque sempre existiu quem a honrasse. Mas uma vergonha sutil, uma vergonha enrodilhada e traiçoeira, a vergonha de não ser semelhante, vergonha porque os outros não conseguem tratá-lo como igual. Pois, quando põe a farda, sabe que intimida; quando põe a farda, sabe que não lhe dizem toda a verdade; quando põe a farda, sabe que há gente que o evita; quando põe a farda, nunca sabe se é bem tratado porque gostam dele ou porque têm medo dele e acham que precisam agradá-lo. E sabe que mete medo porque a farda há sido demasiadamente mal usada, talvez por ele próprio. É essa vergonha, vergonha que vem de serem os soldados cada vez mais tutores ou tiranos, vergonha que cada vez mais aumentará, porque o poder quer mais poder e o poder odioso só se conserva aumentando essa vergonha. Pior ainda é que, com todo esse poder, cujo gosto terá sempre um travo amargo e não produzirá senão uma felicidade rasa, não serão de fato senhores, mas capatazes de seu próprio povo, seduzidos por falsas honrarias e pelas migalhinhas dos ricos e aristocratas, cuja vida jamais lhes será permitido conhecer. Servos, servos graduados, mas servos. Só não o seriam se o seu serviço fosse à única entidade soberana, que é o povo, da qual não querem, embora mintam, fazer parte. Deixou que uma lágrima lhe escorresse livremente de cada olho, deu um empurrão no lenço que uma mão solícita lhe levou ao rosto e disse, a voz tão baixinha que quase ninguém escutou, que não estava pretendendo que alguma coisa acontecesse por causa do que falara ou falasse. Não pretendia que acontecesse nada, não previa nada, apenas testemunhava e era um testemunho a que dariam fé ou não, mas era um testemunho. Não podia morrer sem contar que sabia com certeza de uma coisa, a qual, por sua vez, lhe dava certeza de uma segunda coisa — que o povo pensa, que o povo pulsa, que o povo tem uma cabeça que transcende as cabeças dos indivíduos, que não poderá ser exterminado, mesmo que façam tudo para isso, como fazem e farão. E a primeira coisa de que tinha certeza era a respeito do Espírito do Homem. — Não posso morrer antes de garantir — disse, levantando a cabeça sem olhar para lugar algum — que o povo brasileiro não está só. Não porque tenha aliados, pois só quem tem
aliados são os governantes, mas em razão de uma causa comum a todos os homens, por mais que não pareça assim, mesmo porque o Mal existe. Mas o Espírito do Homem também existe, não como uma quimera, como algo inventado por necessidade. Tudo mais se inventou por necessidade e a única coisa que não se inventou por necessidade, embora seja a única que por necessidade existe, é o Espírito do Homem. O Espírito do Homem é universal e aspira à plenitude e à graça, tem como causa comum a todas as suas consciências essa aspiração, que se traduz na paz final de existir sem que se veja a existência, existir como essência, só existir, porque o Espírito do Homem anseia a perfeição, que é o Bem. Curvou a cabeça para o lado e continuou a falar como se apenas suspirasse e somente o ar insonoro lhe modulasse o pensamento. Ninguém mais pôde ouvir o que ele disse, muitos até julgaram que dormia movendo os lábios, mas ele falou ainda um pouco, disse que o Espírito do Homem venceria e portanto o povo venceria. Respirou fundo, fez um ar de riso, acenou com o indicador para o meninote que o olhava tão penduradamente desde que começara a falar, pediu-lhe que se aproximasse o mais possível. — Vou lhe dizer uma coisa por enquanto inútil — cochichou. — Talvez para sempre, porque posso ser um velho caduco e não saber. Psssi! Você só vai poder ser tudo depois que for você! Psssi! Entendeu? Parece bobagem, mas não é! Temos de ser tudo, mas antes temos de ser nós, entendeu? Como é seu nome? Tudo, tudo, tudo, tudo! Psssi! Viva o povo brasileiro, viva nós! Empertigou o pescoço, cruzou os braços, fechou os olhos, inspirou mais fundo do que da outra vez, manteve os pulmões estufados alguns segundos e de repente soprou como quem sopra a fumaça de um cigarro e não se mexeu mais. — Dormiu? — perguntou Isabel Regina, que tinha saído um instante para ver como iam as coisas na copa. — Não sei — disse o rapazinho. — Eu pensei que ele já estava dormindo antes, mas aí ele me chamou para me dizer uma coisa. — O que foi que ele lhe disse? — Não entendi direito, ele falou muito baixinho e disse que podia ser coisa de velho caduco. E terminou dando um viva ao povo brasileiro. — Ah, titio não perde a mania, eu conheço essas coisas dele — exclamou Isabel Regina olhando para o velho carinhosamente, mas ao abraçá-lo a cabeça dele pendeu e ele caiu em seu colo. — Tio! Tio Tico! Ajudem aqui pelo amor de Deus, tio Tico, tiozinho! Mas nem o secretário da Saúde, médico famoso, nem os dois outros médicos presentes e mais os que estavam veraneando na ilha e foram chamados às pressas conseguiram fazer reviver o velho general, apesar da injeção de coramina e das massagens no peito. O coração parara mesmo, a festa estava acabada, agora só restava velar o morto e enterrá-lo. Isabel Regina, lívida mas decidida e calma, tomou todas as providências. O velório não seria na Matriz, seria na velha igrejinha de São Lourenço mesmo, tão querida do general. O bispo auxiliar rezaria a missa de corpo presente, não podia furtar-se a pernoitar em Itaparica para atender a esse desejo dela. O 10 de Novembro zarpou, levando um amigo da família para providenciar o caixão, o representante do comandante da Região Militar para comunicar a seus superiores o passamento e providenciar as honras devidas, um mensageiro encarregado de passar telegramas aos parentes via Western e alguns jornalistas, que publicariam a notícia
nas edições do dia seguinte. A prefeitura decretou luto de uma semana e recusou o pagamento habitual para manter o gerador funcionando toda a noite, em vez de desligá-lo como de costume às dez horas. Todo o povo da cidadezinha, falando em vozes sussurradas como se estivesse dentro de uma igreja, veio para a frente da casa, ter certeza de que o general morrera mesmo e vê-lo pela última vez. Sete horas da noite, submergido em angélicas, palmas-de-santa-rita, crisântemos, cravos, dálias e sorrisos-de-maria, o corpo de Patrício Macário estava em câmara-ardente na nave da igrejinha, onde tinha ingressado carregado por tantas mãos que muitas não chegavam a tocar no esquife, a banda perfilada executando a Marcha Fúnebre de Beethoven, o sargentoregente, muito preto em seu uniforme branco de alamares dourados, chorando, uma mão esgrimindo a batuta e a outra exortando os ataques entristecidos de sua orquestra, a tuba desentoando e fazendo os dós solenes da música soar como lás menores desesperados. Isabel Regina, muito cansada, foi convencida a voltar para casa às dez horas, tomar um banho, descansar um pouco. Mas, ao chegar, apesar do banho morno, não conseguiu dormir e ficou conversando com Dalva na sala de jantar. Pediu-lhe que continuasse morando ali até saberem o que fariam da casa. Quem sabe a D. Dalva, claro que mediante uma boa remuneração, não podia ficar residindo na casa para sempre, mantendo-a como uma espécie de monumento à memória do general? Melhor ainda, por que não transformavam a casa num museu, o Museu Patrício Macário, reunindo tudo o que foi dele e mais outros objetos relacionados com a participação de Itaparica na guerra? Não era uma boa ideia? O general tivera uma vida muito rica, reunira muita coisa ao longo de tantos anos, até escrevera suas memórias. As memórias! Sim, até parecia que ele estava adivinhando, contara-lhe que tinha guardado as memórias numa canastra que só poderia ser aberta depois de sua morte. D. Dalva sabia que canastra era essa? Sabia, sim, devia ser uma esquisita, que ficava no gabinete, sempre coberta por um pano. Raramente a vira, porque o general mantinha o gabinete trancado e só consentia que o arrumassem na sua presença. — Onde está a chave do gabinete? — perguntou Isabel Regina, levantando-se tão bruscamente que derrubou a cadeira. — Deve estar no chaveiro dele, na gaveta da mesa de cabeceira. Pegaram a penca de chaves, correram ao gabinete, abriram a porta, encontraram, para surpresa de D. Dalva, o janelão escancarado e as cortinas esvoaçando. E, no lugar onde devia estar a canastra, não acharam nada, ela tinha desaparecido.
Os ladrões Leucino Batata, Nonô do Candeal e Virgílio Sororoca, não contentes em fazer um verdadeiro catado do Campo Formoso ao Largo da Glória, aproveitando que muita gente estava fora de casa por causa da festa do general, ainda bagunharam os três jegues de Astério da Bica, com cangalha, caçuá e tudo, para carregar para bem longe o que tinham furtado, antes que dessem pela coisa. Tinha rádio elétrico, baixela de prata, colar de pérolas, volta de ouro, vestimenta de luxo, tinha tudo, bastante para encher os seis caçuás e ainda sobrar coisa para carregar nas costas. Tinha também o bauzinho que Nonô apanhara na casa do general e que preocupava Sororoca, que votou contra roubarem do general. Mas Nonô era descuidista de nascimento, ficava doente se via um artigo dando sopa sem ele levar. Chegou a dizer que
também lhe cortava o coração furtar do grande general a quem todo mundo queria bem, mas não podiam ter deixado aquela janelona aberta, é uma coisa que não se faz. E, depois, não devia ter nada mesmo naquele baú, era mais bem uma recordação. Já tinha até tentado abri-lo para provar que dentro dele só devia haver uns papéis velhos e outros bagulhos desse tipo, mas não conseguira, mesmo porque não tinham tempo a perder, precisavam juntar tudo e dar no pé. Depois, chegados a lugar seguro, ele o abriria, não havia de ser tão difícil assim. Aonde diabo dos infernos Batata inventou de ir? Numa noite escura assim, faz até medo o sujeito andar pelos matos desarmado, é bicho, é alma, é qualquer desgraça, até mesmo os garranchos, os carrapichos, as malícias e os cansanções, cada toreba de folha larga que parece um cocó espinhudo. Mas Batata era um sujeito teimoso e resolvera que só dividiriam o produto do trabalho quando chegassem a uma maloca segura. Ele conhecia alguma maloca por ali? Não, não é que conhecesse, mas sabia que por ali havia muitas taperas, muitas ruínas cercadas de matagal e daí a pouco bateriam com uma. — Só conheço o caminho pela praia — resmungou Sororoca, irritado. — Isso aqui é mais ou menos Amoreiras ou Manguinho, não é não? — Mais ou menos. Pode ficar sossegado, que daqui a pouco nós batemos com um lugar para ficar, por aqui tinha muita construção. — Tomara, tomara, porque eu já estou aqui agoniado com esse negócio, ainda mais com esse baú que Nonô resolveu levar do finado general. O homem morreu hoje, o defunto está fresco, de repente a alma dele se reta com o roubo do baú e vem procurar vingança, não sei, não. — Deixe de besteira, rapaz, eu queria ver alma para acreditar, nunca vi foi nada, eu queria ver. — Não diga isso, pela bênção de sua mãe, não diga uma desgraça dessas, a pessoa paga a boca. — Quero ver, quero ver! — Pare com isso, por Nossa Senhora! — Foi falar em Nossa Senhora, ela ajudou! Está vendo ali, perto do riacho, junto daquela touceira de banana brava? Ali, não está vendo aquilo branco, aquilo é muro. Eu já estive aqui uma vez, aquilo ali era uma casa de farinha do tempo dos engenhos e das baleias, ainda tem até um pedaço do telhado, pronto, chegamos! Vombora, jegue ordinário! — Aquilo ali não é assombrado, não, homem? — Qual é assombrado, Sororoca, deixe de ser frouxo! — De vivente de carne e osso, não tenho medo de nenhum, mas de alma eu tenho. Eu sei cada caso... Você conheceu o finado Xaréu, um que morava na Misericórdia, pai daquele menino como-é-o-nome, um ruço? Pois esse menino... — Guarde seus casos, Sororoca, é melhor acender os dois fifós. — Você não pegou uma lanternona naquela casa da rua dos Patos? — É mesmo, busque aí, você sabe acender? — Não tem dificuldade. Levantando a lanterna acesa para alumiar o caminho, Batata entrou, seguido pelos dois outros e pelos jegues. Para uma ruína há tanto tempo abandonada, a casa de farinha estava até em bom estado, a maior parte das paredes de pé, um pedaço de telhado cobrindo a área onde
ficavam os fornos, o piso livre de mato e capim, como se tivesse continuado a ter uso. Os três se abancaram, penduraram a lanterna numa ripa, acenderam mais dois fifós de lata. — Aqui vem gente de vez em quando — disse Batata, passando o pé pelo chão. — Pé de alma não arranca capim, nem desbasta a terra assim. — Bom, vamos logo ver isso — disse Sororoca. — Vamos descarregar esses caçuás, fazer a divisão, um jegue para cada um, dois caçuás para cada um, o material a gente divide pelo valor e não pelas peças, está certo? Levaram muito tempo, discutindo e se aborrecendo uns com os outros, para fazer a divisão. Batata e Sororoca já estavam até dispostos a brigar, quando Nonô, que tinha levado o baú para um canto mas ainda não conseguira abri-lo, resolveu a disputa, abdicando em favor dos outros de algumas coisas a que tinha direito, em troca de concordarem que o baú era seu. Os outros desconfiaram a princípio, examinaram o baú, sacudiram-no para tentar adivinharlhe o conteúdo, mas, como sabiam que Nonô era meio amalucado e certamente estava querendo o baú por simples capricho, não porque já soubesse o que havia dentro dele, terminaram por assentir. — Por que não joga essa peste no muro para arrebentar logo e ver o que tem dentro? — perguntou Sororoca. — Não, não senhor, nada de quebrar, esse baú tem valor. — Que diabo de valor vai ter uma arca velha dessas, pesada que nem a necessidade, toda esquisita, quem é que vai querer um negócio desses, ainda mais que ninguém acerta a abrir? Cadê a fechadura? — Não tem fechadura, já espiei tudo. Só tem essas fendazinhas aqui e essas alças. Isso deve ser um segredo, deve ter um segredo para abrir, isso com calma a pessoa descobre. Tem que ter calma. — Pois então vá tendo sua calma, eu vou é comer o frango assado que a gente apanhou na casa daquela branca. — Vá, vá, basta deixar um pedacinho para mim, eu já vou, num instante eu resolvo isso aqui. — Quem é burro pede a Deus que o mate e o diabo que carregue. Então fique você aí com seu baú, que nós vamos comer. E já tinham até terminado de comer, Batata começava a adormecer e Sororoca pitava um charuto roubado, quando Nonô deu um grito lá do canto, onde, deitado de barriga para baixo defronte da canastra, parecia estar com a cabeça colada a ela. — Venham cá, venham cá! Ligeiro, venham cá! — Por que é que você está falando assim? — É que eu estou aqui prendendo uma linguetinha com o dente e, se eu soltar, acho que não acerto mais a abrir ela! É dura como a desgraça e parece que tem uma mola! Menino! Menino! Menino! — Menino o quê, infeliz, que diabo você está vendo aí? Você está vendo alguma coisa aí? Tem um buraco aí? — Tem, bem em riba de meu olho direito, bem em riba, tem um negócio piscando lá dentro! Menino!
— Tem um negócio piscando? — Tem. Não! Parou de piscar! Menino! Virsantíssima! Nossa Senhora do Perpessocorro! Tudo alumiado! Menino! — Deixe de ser colhudeiro, Nonô, você não está vendo nada aí, está vendo coisa nenhuma! Saia daí para eu ver também. — Não, não saio, se eu largar, essa desgraça fecha e não tem esse santo que abra de novo, eu abri foi de cagada. Menino! Mas que coisa, ai meu olhinho, Santa Mãe de Deus! — Deixe de ser mentiroso, rapaz, você não está vendo nada aí. — Pela luz do alto, por tudo que é sagrado, juro a você! Quer que eu lhe diga o que eu estou vendo? — Diga, diga. — Eu estou vendo o futuro! — Vendo o futuro? O futuro como? — Não sei, só sei que é o futuro, é uma coisa que tem aqui que mostra que é o futuro. — Que coisa é essa? — Não sei dizer, é uma coisa. — Ora, deixe de querer fazer os outros de besta, você não está vendo futuro nenhum, não está vendo é nada. — Estou, estou, estou! — Então diga que bicho vai dar amanhã, que bicho vai dar? — Não é esse tipo de futuro que eu estou vendo. É como se tivesse aqui uma voz me cochichando para explicar o que tem lá dentro, mas não tem voz nenhuma, porém tem. Menino! — Que é que você está vendo agora? — Ladrão como um corno! Ladrão pra dar de pau, ladrão e mentiroso por tudo quanto é lado! — Muito ladrão aí? — Chi! Chiiii! Nem me fale! E tudo muito bem trajado, uma finura! — Trajado como, de terno, de duque, de colete e gravata? — De duque de diagonal, terno de gabardine, gravata de seda, alfinetes de brilhantes, botuaduras de péurulas, sapato de corcodilo, água de cheiro no subaco de vintes contos a gota! Isso quando é paisano. — Tem ladrão fardado? — Niminfales! Jesus Cristo, ói cuma tem! Menino! — Tudo entrando nas casas e metendo a mão em tudo dos outros? — Que nada! Eles nem toca no dinheiro, tudo tem uns cartãozinho, o dinheiro não tem nome de dinheiro. — Que nome tem o dinheiro? — Todo tipo de nome. É verba, é dotação, é uma certa quantia, é age, é desage, é numerário, é honorário, é remoneração, é recursos alocado, é propriação de reculso, é comissão, é fis, é contisprestação, é desembolso, é crédio, é transferência, é vestimento, é tanto nome que se eu fosse dizer nunca que acabava hoje e tem mais coisa para ver. Dinheiro mesmo é que ninguém fala, todo mundo tem vergonha de falar que quer dinheiro.
— Vergonha de dinheiro aí? — Grande vergonha! Todo mundo manda o dinheiro para fora e tem tanto acanhamento que, quando alguém conta que eles mandaram o dinheiro para fora, eles ficam acanhados e mandam prender esse dito certo alguém e, se esse dito certo alguém continuar falando no dinheiro que eles malocaram, eles mandam matar esse dito certo alguém! — Muita gente morta aí? — Chiii! Tem uma bomba que não deixa a alma do vivente nem sair, torra a alma também. Tá escrito aqui: nada non suferfife a uma prosão telmonucreá, nem as arminhas, as alminhas! — Botaram a bomba aí? — Botaram não, tão querendo botar, que é para garantir a paz. Se ninguém se comportar, morre todo mundo, morre até as alminhas no telmonucreá! — Mas então ninguém morreu ainda, pode morrer mas não morreu. — Morreu, sim! Tá morrendo! Tem um menino aqui de oito anos que está carregando a irmã de dois anos que um americano deu um tiro sem querer, depois que outros americanos jogaram uma bomba na casa do pai dele sem querer, na hora que os americanos entraram para invadir a terra dele para salvar ele, só que não sobrou ninguém, ficou tudo salvo. Tem gente morrendo também de todo jeito, morrendo muito de fome, cada menino magro que parece uma taquara, tudo os aribus vindo para comer. Muito aribu gordo! — Não tem comida aí, não? — Não, comida tem, tem até demais. Tem um pessoal louro misturando leite em pó no macadame da avenida, para ficar mais macio. Tem gente tocando fogo em pinto e afogando pinto que faz gosto, tem gente matando ganso só para tirar o figo, tem gente pagando para o homem não plantar que é para não ter comida demais e o preço não descer, tem gente querendo capar os outros para os outros não fazer filhos que possam comer a comida que se joga fora, tem coisa que Deus duvida aqui! Tem subola e alho jogado no rio, veja você, subola e alho! Depois que eles joga no rio, eles compra outra vez, só que no estrangeiro, que é para o estrangeiro respeitar ele. — Muito estrangeiro aí? — Poucos, mas tudo mandando, uma coisa por demais. O sujeito gosta de uma coisa, ele vem e diz que o sujeito não gosta e manda o sujeito gostar de outra, porém com arte. O estrangeiro manda, porém não é o estrangeiro, é o dinheiro. O dinheiro manda. — Muito dinheiro sobrando aí? — Chiiii! Mas tudo na mão deles! — E para que serve esse dinheiro todo? — Pra tudo! Você não sabe o que eles faz! — Que é que eles fazem assim, menino? — Ah, eles mata, eles furta, eles rouba, eles mente, eles manda e desmanda, eles pinta o caráio e nada acontece com eles. Pense aí numa coisa, que eu lhe digo se tem aqui. Pense numa coisa bem ruim aí. — Estão matando pai de família? — Nem lhe conto! Chiiii! Ave Maria! Chiiii! E tem ninguém podendo sair na rua,
menino? Tudo saindo, tudo morto à bala! — Criança aí, estão matando? — Mas que é uma liquidação, esse menino! Parece mosca no vinagre! Eta, que desgraça, que desgraça, ai meus olhinhos! — Que foi aí, Nonô? — Ai meus olhinhos, não posso crer, ai meus olhinhos, minha Nossa Senhora, minha Virgem Santíssima, perdoe os meus pecados, meu Deus do céu, ai meus olhinhos, ai meu olhinho! Quanta desgraça! — Tem jeito não, Nonô? — Ai meu olhinho, eu não quero ver mais, ai meu olhinho! Lá vem cacete, eu não quero ver mais, lá vem cacete! — Largue não, espie mais! — Tem que ter coragem, tem que ter coragem. — Tenha coragem, rapaz, espie mais! Conte mais, que é que você está vendo mais? Mas Nonô não pôde continuar a olhar para dentro da canastra, porque um ronco surdo, como se um animal imenso estivesse soterrado ali e quisesse levantar o chão para sair, começou a agitar tudo em torno, um ronco de elefante, de baleia, de onça, um arfar penoso que de repente tomou conta do mundo, não era mais um bicho embaixo da terra, era a própria terra como se estivesse em dor de parir, como se fosse morder, como se fosse revirar-se sobre si mesma. — Está tudo vivo, minha Nossa Senhora, meu Jesus Cristo, tudo é vivo! — gritou Sororoca. — Ai, minha mãe! Os outros, mesmo que quisessem responder, não poderiam, porque, com um grito que jamais pensara poder dar, Batata puxou a mão da parede em que a encostara, ao sentir escorrer sobre ela um caldo espesso e quente, um caldo vermelho e ardente, um caldo semelhante a sangue, sangue porejando lentamente das paredes das ruínas da casa de farinha, derramando-se em borbotões vagarosos sobre os blocos de argamassa, saindo de todos os pontos da parede, uma cachoeira viscosa e silenciosa, sangue brotando de cada rachadura, cada ponto escuro do cimento antigo, cada esconderijo de aranhas e lacraias, cada grão de areia ali juntado, cada pedrinha. A casa da farinha entrou em compasso com a terra por baixo dela, o sangue passou a jorrar como se bombeado por aqueles grandes suspiros, os jegues arrepanharam as cabeças e quebraram os cabrestos para fugir, os três ladrões, sem falar nada, desembestaram pelo meio das brenhas, procurando o mar pelo cheiro. No céu de Amoreiras nada se via, a não ser as constelações de janeiro em seu passeio inexorável. Mais acima desse céu de Amoreiras, onde tudo existe e nada é inacreditável, o Poleiro das Almas, vibrando de tantas asas agitadas e tantos sonhos brandidos ao vento indiferente do Universo, quase despenca da agitação que o avassalou, enquanto a terra latejava lá embaixo e as alminhas faziam força para descer, descer, descer, descer, descer, descer, porque queriam brigar. Por que queriam brigar? Não se sabe, nada se sabe, tudo se escolhe. Tudo se escolhe, como sabem as alminhas agora tiritando no frio infinito do cosmos, que as balança como as arraias empinadas pelos meninos de que têm saudades. Almas brasileirinhas, tão pequetitinhas que faziam pena, tão bobas que davam dó, mas decididas a voltar para lutar. Alminhas que tinham aprendido tão pouco e queriam aprender mais, como é da natureza das alminhas, e tremeram outra vez quando lá embaixo três ladrões correram da velha canastra, a qual foi soterrada pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pela argamassa que é a mesma coisa, pelo suor que é a mesma coisa, pelas lágrimas que são a mesma coisa, pelo leite do peito que é a mesma coisa. Isso lá em cima, Deus sorrindo ou não, porque embaixo, muito embaixo sob os ares de Amoreiras, tudo acontecia ou estava sempre podendo acontecer. O sudeste bateu, juntou as nuvens, começou a chover em bagas grossas e ritmadas, todos os que ainda estavam acordados levantaram-se para fechar suas janelas e aparar a água que viria das calhas. Ninguém olhou para cima e assim ninguém viu, no meio do temporal, o Espírito do Homem, erradio mas cheio de esperança, vagando sobre as águas sem luz da grande baía.
João Ubaldo Ribeiro
O melhor da literatura para todos os gostos e idades



















