



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Era a cidade mais aborrecida do mundo
O final da estação das chuvas ainda não tinha sido oficialmente declarado, mas o céu por cima de Tóquio era de um azul intenso e o sol veranil queimava a Terra. Os salgueiros, carregados de folhas verdes ao fim de muito tempo, voltavam a projetar as suas sombras densas e vacilantes sobre o pavimento das ruas.
Tamaru encontrou-se com Aomame à entrada da casa. Vestia um fato de verão em tons escuros, uma camisa branca e uma gravata lisa. Nem uma gota de suor para amostra. Aos olhos de Aomame, continuava a ser um mistério como é que um homem tão corpulento conseguia fazer para nunca transpirar, por mais calor que estivesse.
Ao ver Aomame, Tamaru cumprimentou-a com um breve aceno de cabeça, pronunciou uma saudação quase impercetível e não tornou a abrir a boca. Naquele dia, não trocou com ela ideias sobre este ou aquele assunto, como era seu costume. Percorreu um longo corredor, sem olhar para trás, sempre à frente de Aomame, e conduziu-a até ao sítio onde a viúva se encontrava à espera dela. Aomame tinha a impressão de que Tamaru não se sentia com grande disposição para falar de trivialidades. Talvez a morte da cadela o tivesse perturbado. «Temos de arranjar outro cão de guarda», dissera ele ao telefone, como se falasse do tempo, apesar de Aomame saber perfeitamente que, no fundo, não era um indício de como ele se sentia. A pastora alemã significava muito para ele: acolhera-a durante longos anos, e a cadela, por seu turno, afeiçoara-se a ele. O homem tinha sentido a morte da Bun, repentina e em circunstâncias misteriosas, ao mesmo tempo como um insulto e um desafio pessoal. Ao observar as suas costas, largas e mudas como um quadro preto numa sala de aulas, Aomame conseguia imaginar a raiva surda que ele devia estar a sentir.
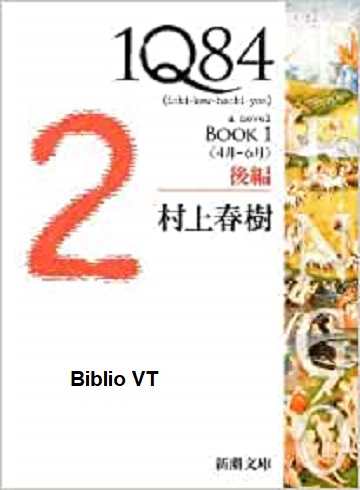
Tamaru abriu a porta da sala de estar, deixou passar Aomame e ficou de pé na entrada, à espera de que a dona da casa lhe desse instruções.
– Por enquanto estamos bem, não precisamos de nada – disse ela.
Tamaru fez um ligeiro aceno com a cabeça e fechou a porta sem ruído. A senhora e Aomame ficaram as duas sozinhas na divisão. Em cima da mesa, junto à cadeira de braços onde se sentava a anciã, via-se um aquário redondo de vidro com dois peixinhos-vermelhos a nadar no seu interior. Eram peixes normalíssimos, dos mais vulgares que há, à venda em qualquer sítio, e o mesmo se podia dizer do aquário; lá dentro, ao sabor da água, ondulava a planta aquática da ordem. Aomame já tivera ocasião de estar naquela sala de visitas ampla e nobre, mas era a primeira vez que via ali peixes. De quando em quando, sentia na pele uma brisa fresca, como se o ar condicionado estivesse regulado no mínimo. Em cima da mesa, atrás dela, havia um vaso com três lírios brancos. As flores eram grandes e pesadas, pareciam pequenos animais exóticos em estado de meditação.
Com um gesto, a velha senhora convidou Aomame a sentar-se no sofá ao lado do seu. A janela que dava para o jardim tinha as cortinas de renda branca corridas, mas os raios de sol que se faziam sentir nessa tarde de verão incidiam com grande intensidade. Debaixo daquela luz, a velha senhora parecia mais esgotada do que nunca. Afundada no enorme cadeirão, tinha o queixo apoiado nas mãos. Os olhos mostravam-se encovados e as rugas do pescoço mais pronunciadas. Os lábios estavam descorados. O contorno dos seus olhos parecia ligeiramente descaído, como se as pálpebras tivessem desistido de lutar contra a gravidade. Talvez devido a algum problema na circulação sanguínea, viam-se umas manchas brancas, como se estivesse salpicada de farinha. Envelhecera cinco ou seis anos, em relação à última vez em que Aomame a tinha visto. E, nesse momento, dir-se-ia não se importar sequer com os sinais exteriores de cansaço que exibia. Não era normal. Pelo menos, quando anteriormente Aomame se encontrara com ela, via-se que tinha sempre a preocupação de se apresentar bem arranjada e limpa: mobilizava toda a sua energia interior, mantinha uma postura muito direita, controlava a expressão facial, procurando não exteriorizar sinais de envelhecimento. E, em boa verdade, os seus esforços haviam sido, até aí, coroados de êxito.
Aomame reparou que muitas coisas tinham mudado naquela casa. Até mesmo a luz da sala irradiava um brilho diferente do habitual. E, depois, era preciso não esquecer aqueles peixes coloridos e o aquário tão banal, que não se enquadravam numa sala com um pé-direito alto, repleta de verdadeiras antiguidades.
A velha senhora permaneceu em silêncio por algum tempo. Com o queixo apoiado sobre a mão, olhava fixamente para um ponto perdido no espaço ao lado de Aomame. Porém, esse ponto nada tinha de especial que merecesse ser visto, Aomame sabia-o. Não passava de um espaço transitório onde pousar o olhar.
– Tens sede? – perguntou a anciã, baixinho.
– Não, não tenho sede – respondeu Aomame.
– Há chá gelado, se quiseres. Serve-te, tens aí um copo.
A senhora indicou a mesinha de apoio com rodas que estava junto à entrada. Havia um jarro de chá com gelo e rodelas de limão. Ao lado, três copos coloridos de cristal trabalhado.
– Obrigada – disse Aomame, continuando sentada sem mudar de posição, enquanto esperava pelo que a anciã tinha para lhe dizer.
A viúva permaneceu calada durante um bom bocado. Havia um tema que pretendia abordar com Aomame, mas temia que, ao traduzi-lo em palavras, a verdade contida nos factos pudesse tornar-se uma realidade ainda mais convincente. Preferia, por isso, adiar o momento da revelação, nem que fosse por pouco tempo. Era esse o significado daquele silêncio. Deitou uma olhadela ao aquário que tinha a seu lado; a seguir, resignada, olhou de frente para Aomame. Os seus lábios formavam uma linha direita, um tudo-nada curvada para cima nas extremidades.
– Calculo que o Tamaru te tenha contado que a Bun, a cadela que vigiava a casa-abrigo, morreu em circunstâncias inexplicáveis? – perguntou a anciã.
– Sim, contou-me.
– Depois disso, foi a Tsubasa quem desapareceu.
Aomame contraiu ligeiramente o rosto.
– Desapareceu?
– Esfumou-se. O mais provável é isso ter acontecido de noite. Esta manhã, já lá não estava.
Enrugando os lábios, Aomame esforçou-se por encontrar o que dizer. As palavras adequadas tardavam em sair.
– Mas... pelo que me disse no outro dia, depreendi que a Tsubasa dormia sempre com alguém no quarto, por uma questão de segurança.
– E assim era, mas acontece que a mulher na cama ao lado adormeceu como uma pedra e nem se deu conta do desaparecimento da rapariga. Ao amanhecer, a Tsubasa já não se encontrava deitada no seu futon.
– A pastora alemã morreu e, no dia seguinte, foi a Tsubasa quem levou sumiço – disse Aomame, como se estivesse a confirmar os factos.
A anciã concordou com a cabeça.
– Por agora, não sabemos se existe alguma relação entre uma coisa e outra. Todavia, inclino-me a pensar que sim, que existe.
Sem motivo aparente, Aomame olhou de relance para o aquário com os peixes, pousado em cima da mesa. A senhora seguiu o olhar dela e fez o mesmo. Os dois peixes-vermelhos nadavam às voltas no interior do recipiente de vidro, movendo as barbatanas com delicadeza. A luz estival refratava-se de maneira estranha no interior do aquário, produzindo a ilusão de se estar a observar um misterioso fragmento perdido nas profundezas dos mares.
– Estes peixes, tinha-os comprado para a Tsubasa – explicou a viúva a Aomame, sem deixar de olhar para ela. – Estava a decorrer um festival no mercado de Azabu e levei a Tsubasa a dar um passeio. Não me parecia saudável que ela passasse tanto tempo fechada em casa. O Tamaru também foi connosco, escusado será dizer. Numa das barraquinhas da feira, comprámos o aquário com os peixinhos-vermelhos. A menina deu a entender que tinha ficado encantada com eles. Pô-los no quarto e passou o resto do dia a contemplá-los. Após o seu desaparecimento, resolvi trazê-los para aqui. Agora é a minha vez de passar os dias a olhar para eles. Não faço mais nada, limito-me a seguir os seus movimentos. Ainda que pareça estranho, não me canso de os observar. Nunca, até à data, me lembro de ter dedicado tamanha atenção a uns meros peixinhos-vermelhos.
– Tem alguma ideia do paradeiro da Tsubasa? – perguntou Aomame.
– Não – respondeu a velha senhora. – Nem sequer conta com familiares a quem se possa dirigir em busca de ajuda. Tanto quanto sei, a pequena não tem onde se refugiar neste mundo.
– Qual é a probabilidade de alguém a ter levado à força?
A anciã fez um pequeno movimento nervoso com a cabeça, como se quisesse espantar uma minúscula mosca invisível.
– Não, ela pura e simplesmente foi-se embora. Ninguém entrou por ali dentro e a levou contra a vontade dela. Se assim fosse, as outras pessoas que vivem na casa teriam acordado e dado por isso. As mulheres que lá vivem têm, todas elas, o sono ligeiro. Creio que a Tsubasa partiu de sua livre vontade. Levantou-se sem fazer barulho, desceu as escadas, abriu a porta, que estava fechada à chave, e saiu. Consigo imaginar a cena. A cadela não podia ladrar, pois tinha morrido na véspera. Apesar de ter à mão uma muda de roupa para o dia seguinte, saiu para a rua em pijama. De certeza que não levou nem um iene com ela.
No rosto de Aomame a crispação acentuou-se.
– Saiu porta fora, em pijama?
A viúva fez que sim com a cabeça.
– Sim. Confesso que não sei... onde diabo poderá ter ido uma rapariguinha de dez anos, sozinha, em pijama, sem dinheiro? É impensável para alguém com dois dedos de testa. Mas, de certa maneira, quando me ponho a pensar nisso, não me parece assim tão estranho. Vou até um pouco mais longe: se aconteceu, é porque tinha de acontecer. Portanto, não me dou ao trabalho de andar à procura dela. Fico aqui quieta, a olhar para os peixes-vermelhos.
A anciã deu outra olhadela ao aquário. Depois voltou a olhar de frente para Aomame.
– Sei que ir à procura dela seria inútil, nesta altura. A pequena encontra-se fora da nossa alçada.
Ao dizer aquilo, deixou de apoiar a cabeça e libertou lentamente, num suspiro, todo o ar que acumulara por tempos infindos dentro do corpo. Colocou as mãos sobre os joelhos.
– Sim, mas o que a terá levado a ir-se embora? – perguntou Aomame. – Sabia que na casa-abrigo estava protegida, e agora não dispõe de outro sítio para onde ir.
– Desconheço o motivo, mas dá-me a impressão de que a morte da cadela deve ter sido o que desencadeou todo o processo. Assim que aqui chegou, afeiçoou-se à Bun, que, por seu turno, também ficou desde logo muito ligada a ela. Era como se fossem amigas do peito. Por isso, a morte da cadela, sobretudo de uma maneira tão inexplicável e tão sangrenta, foi para ela um grande choque, como é lógico. Para todas as pessoas que vivem na casa, de resto. Agora que penso nisso, talvez essa morte, perpetrada com requintes de crueldade, tenha constituído uma espécie de aviso dirigido à Tsubasa.
– Um aviso?
– Um aviso para que não ficasse aqui. Como quem diz: «Sabemos que estás aí escondida. Tens de partir, senão a desgraça abater-se-á sobre as pessoas que te rodeiam.» Enfim, uma mensagem do género.
A velha senhora tamborilava com os dedos, marcando um ritmo imaginário sobre os joelhos. Aomame esperou que ela retomasse o fio à meada.
– De certeza que a jovem compreendeu a mensagem e tomou a iniciativa de partir. Não acredito que se fosse embora só por querer. Foi obrigada a isso, mesmo sabendo que não tinha para onde ir. Cai-me a alma aos pés só de pensar que uma rapariguinha de dez anos tenha sido forçada a tomar semelhante decisão.
Aomame gostaria de ter esticado o braço para agarrar na mão da viúva, mas, às tantas, ficou-se pelas boas intenções. A história ainda não tinha chegado ao fim.
A anciã prosseguiu:
– Nem preciso de te dizer o rude golpe que isto representou para mim. Foi como se me tivessem arrancado um membro, até porque estava nos meus planos adotar a menina legalmente e tratar dela como se fosse minha filha, apesar de saber que o processo não iria ser fácil. No caso de as coisas darem para o torto, não poderia queixar-me nem reclamar junto de ninguém. Na minha idade, o corpo ressente-se, e tudo isso representa um peso enorme.
– Pode ser que a Tsubasa regresse de um dia para o outro. Não tem dinheiro, muito menos para onde ir...
– Gostaria de acreditar nas tuas palavras, mas não penso que isso vá acontecer – disse a senhora num tom ausente. – Estamos a falar de uma menina que, embora tenha apenas dez anos, já pensa pela sua própria cabeça. Foi ela quem tomou a decisão de se ir embora. Duvido que regresse de livre vontade.
Aomame pediu licença, pôs-se de pé, aproximou-se da mesinha com rodas que estava junto à porta e serviu chá gelado num copo azul de cristal trabalhado. Não era tanto a sede que a movia; precisava de se levantar e de fazer uma pequena pausa. Depois voltou para o sofá, bebeu um gole de chá e pousou o copo em cima da mesa.
– Vamos deixar este caso da Tsubasa, por agora – referiu a velha senhora, enquanto esperava que Aomame encontrasse posição no sofá. A seguir, esticou o pescoço e entrelaçou as mãos diante do peito, como se fosse sua intenção colocar ali um ponto final. – Passemos ao tema da Vanguarda e do seu líder. Quero informar-te do que descobrimos acerca dele. É esse o propósito da tua visita, hoje, se bem que, de certa forma, esteja relacionada com a Tsubasa.
Aomame assentiu com a cabeça. Não era nada que não tivesse imaginado.
– Como tive oportunidade de te dizer antes, devemos ajustar contas com esse indivíduo a quem chamam Líder, aconteça o que acontecer. Refiro-me a enviá-lo para o outro mundo. Como sabes, esse homem tem por hábito violar rapariguinhas de dez anos, que não tiveram ainda a sua primeira menstruação. Para justificar tais atos, inventou uma doutrina e aproveita-se da comunidade religiosa a que pertence, explorando ao máximo o seu próprio sistema. Mandei averiguar o assunto o melhor que pude e confiei a investigação a profissionais dignos de confiança, o que me custou mais do que o previsto. Não foi tarefa fácil. Isto para dizer que conseguimos, ao fim de muitas diligências, identificar quatro meninas que, tudo leva a crer, terão sido violadas por esse homem. A Tsubasa foi a quarta.
Aomame pegou no copo de chá gelado e bebeu um pequeno gole. Não lhe soube a nada. Era como se tivesse a boca cheia de algodão e todo e qualquer sabor fosse por ele automaticamente absorvido.
– Não sabemos ainda todos os pormenores, mas duas das jovenzinhas, pelo menos, continuam a viver na comunidade religiosa – assegurou a anciã. – Segundo parece, desempenham o papel de sacerdotisas pessoais do Líder. Nunca se mostram diante dos outros fiéis. Ignoro se permanecem na seita por vontade própria ou se tiveram de ali ficar porque não conseguiram escapar. Também não pudemos confirmar se as meninas em questão tiveram relações sexuais com o Líder. Em todo o caso, partilham o mesmo espaço, o que significa que vivem no mesmo sítio, como se de uma família se tratasse. O acesso à área residencial do Líder está rigorosamente proibido, e os seguidores comuns não podem aproximar-se. São muitas as coisas que ainda se encontram envoltas numa nuvem de mistério.
Do copo de cristal trabalhado, pousado em cima de mesa, começaram a escorrer gotas de água pela parte de fora. A viúva interrompeu por momentos o que estava a dizer, a fim de recuperar o fôlego, e depois continuou:
– Uma coisa é certa: diz-se que a primeira das quatro vítimas é a própria filha do Líder.
Aomame franziu o cenho. Os músculos da cara moveram-se sozinhos e ficaram seriamente deformados. Fez menção de dizer alguma coisa, mas as palavras não lhe subiram à boca.
– Podes crer – referiu a velha a senhora. – Pensa-se que esse homem terá começado por violar a própria filha. Aconteceu há sete anos, quando ela contava dez anos.
Através do intercomunicador, a dona da casa pediu a Tamaru que lhes levasse uma garrafa de xerez e dois copos. As duas mulheres deixaram-se estar caladas, cada uma procurando ordenar os seus pensamentos. Tamaru chegou, entretanto, trazendo uma bandeja com dois elegantes copos de cristal e uma garrafa de xerez por encetar. Deixou ficar tudo em cima da mesa e, a seguir, abriu a garrafa com um movimento decidido e preciso, como se torcesse o pescoço a um pássaro. O xerez produziu um som gorgolejante ao ser vertido nos copos. Assim que a dona da casa assentiu com a cabeça, Tamaru fez uma vénia e abandonou a sala. Como de costume, não pronunciou uma só palavra. Nem sequer se ouviram os seus passos.
A história da cadela não é a única coisa que o preocupa. O desaparecimento da rapariga, ainda por cima diante dos seus olhos, provocou no Tamaru uma ferida profunda. Sem esquecer que a velha senhora a estima mais do que a ninguém...
Não se podia dizer exatamente que o sucedido fosse culpa dele. Tamaru não prestava serviços vinte e quatro sobre vinte e quatro horas e, tirando uma ou outra situação especial, ia sempre dormir a casa, que ficava a uns dez minutos a pé. Tanto a morte da cadela como o desaparecimento da menina ocorreram de noite, na sua ausência. Ter-lhe-ia sido impossível impedir quer uma, quer outra coisa. O seu trabalho consistia, antes de mais, em proteger a senhora e a Casa dos Salgueiros. Não fazia parte das suas incumbências manter a segurança da casa-abrigo, situada fora dos limites da mansão. Ainda assim, Tamaru considerava aqueles acontecimentos um fracasso pessoal e uma humilhação imperdoável que o atingia em cheio na sua honra.
– Estás preparada para eliminar esse indivíduo? – perguntou a velha senhora a Aomame.
– Mais do que preparada – retorquiu Aomame com toda a certeza do mundo.
– Olha que a tarefa não será fácil – advertiu-a a anciã. – Bem sei que as missões de que te encarrego nunca são fáceis... Esta, porém, anuncia-se bastante mais difícil. Pela minha parte, farei tudo o que estiver nas minhas mãos, mas desde já te aviso de que não sei até que ponto poderei garantir a tua segurança. Sem dúvida que te esperam mais riscos do que aqueles a que tens estado exposta até agora.
– Tenho plena consciência disso.
– Como já referi, não te quero expor a nenhum perigo desnecessário. Mas, para ser honesta, desta vez, a nossa margem de manobra encontra-se muito limitada.
– Não faz mal – disse Aomame. – O que não podemos é permitir que esse homem continue vivo.
A anciã pegou no copo e bebeu um pouco, deixando o xerez escorrer pela língua, a fim de o provar. Por momentos, o seu olhar demorou-se nos peixes-vermelhos.
– Sempre gostei de beber xerez à temperatura ambiente, nas tardes de verão. Não gosto de coisas frias quando está calor. Depois de beber xerez, deito-me e durmo um pouco. Quando acordo, já sinto menos calor. Quem me dera poder um dia morrer assim. Beber um pouco de xerez numa tarde de verão, deitar-me no sofá e adormecer sem me dar conta, para nunca mais acordar.
Aomame também ergueu o seu cálice e bebeu um pequeno gole. Não se podia dizer que fosse grande apreciadora de xerez, mas estava a precisar de alguma coisa que lhe desse vida. Desta vez, ao contrário do que acontecera com o chá gelado, o sabor apoderou-se dela. O gosto forte do álcool queimou-lhe a língua.
– Gostaria que me respondesses com sinceridade – disse a velha senhora. – Tens medo de morrer?
Aomame não precisou de tempo para pensar na resposta. Abanando a cabeça, confessou:
– Nem por isso. Comparado com a maneira como vivo, assusta-me mais este tipo de existência que levo...
A anciã esboçou um breve sorriso, e isso teve o condão de a rejuvenescer. Os seus lábios voltaram a recuperar cor e vida. Podia ser que a conversa com Aomame funcionasse como um estímulo, ou então o golinho de xerez surtira efeito.
– Recordo-me de teres dito que havia um homem de quem gostavas.
– Sim, é verdade. Mas as hipóteses de o encontrar e unir o meu destino ao dele são praticamente nulas. Por isso, mesmo que eu morresse, o que se perderia não andaria longe do zero.
A anciã semicerrou os olhos.
– Quando dizes que nunca poderás acabar a tua vida ao lado desse homem, existe alguma razão concreta que te leva a pensar isso?
– Não, não especialmente – respondeu Aomame. – Tirando eu ser quem sou.
– Não está nos teus planos tomar a iniciativa de o procurar?
Aomame negou com a cabeça.
– Para mim, o mais importante é desejá-lo com todas as minhas forças, do fundo do coração.
A velha senhora deixou-se ficar de olhos postos em Aomame, aparentemente espantada.
– És uma mulher com ideias muito claras.
– A necessidade aguça o engenho – respondeu Aomame, levando o copo de xerez aos lábios, num gesto de pura formalidade. – Não me tornei assim por gosto.
O silêncio invadiu a sala por momentos.
Os lírios mantinham a cabeça baixa e os peixinhos continuavam a nadar por entre os raios refratados, à luz de verão.
– É possível que se consiga criar um estratagema para que te encontres sozinha com o Líder – assegurou a anciã. – Não vai ser nada fácil e a coisa levará o seu tempo, mas podemos proporcionar isso. Quando chegar a altura, terás pura e simplesmente de fazer o mesmo de sempre. Com a diferença de que, desta vez, assim que tiveres realizado o trabalho, serás obrigada a desaparecer do mapa. É possível que venhas a precisar de fazer uma cirurgia plástica ao rosto. Escusado será dizer que deixarás o teu emprego atual e partirás para longe daqui. Também precisas de mudar de nome. Tenho ainda de te pedir que abandones tudo o que possuis. No fundo, vais passar a ser outra pessoa. Claro que receberás uma recompensa generosa. Do resto encarrego-me eu. Estás disposta a isso?
Aomame respondeu:
– Como já disse, não tenho nada a perder. Nem o meu emprego, nem o meu nome, nem a vida que levo atualmente em Tóquio: nada disso se reveste de grande importância para mim. Não tenho objeções a fazer.
– Nem sequer quanto a mudares de cara?
– Seria uma mudança para melhor?
– Se é o que desejas, podemos encarregar-nos disso – respondeu a anciã, com uma expressão sombria. – Naturalmente que haverá certos limites, mas podemos tratar de construir um rosto de acordo com o que tu desejares.
– Já agora, de caminho, será que poderia aumentar o tamanho do peito?
A viúva fez que sim com a cabeça.
– Pode ser uma boa ideia. Quero dizer, no sentido de levar as pessoas ao engano, claro.
– Estava a brincar – atalhou Aomame, suavizando a expressão. – Apesar de não me sentir especialmente orgulhosa dos meus seios, a verdade é que não me importo de continuar com aquilo que tenho. É leve e fácil de transportar. Além de que seria uma chatice, nesta altura do campeonato, ter de passar a comprar sutiãs com um tamanho diferente.
– Por mim, podes comprar os que quiseres.
– Era outra brincadeira – disse Aomame.
A velha senhora deixou escapar um sorriso.
– Desculpa. Não estou habituada a ouvir-te dizer piadas.
– Não me oponho à ideia da cirurgia plástica – disse Aomame. – Muito embora nunca me tenha passado pela cabeça fazer uma operação estética, a verdade é que também não existem razões que me levem a rejeitar a proposta. Nunca gostei por aí além da minha cara, e não se pode dizer que tenha havido alguém que gostasse especialmente dela.
– Olha que vais perder os teus amigos, sabes?
– Não tenho ninguém que considere verdadeiramente amigo – começou por dizer Aomame, mas depois lembrou-se de Ayumi. Se eu desaparecesse de repente, sem dizer água-vai, ela era capaz de ficar triste. Poderia até, quem sabe?, sentir-se traída. Contudo, assim à partida, talvez fosse um bocado forte chamar-lhe «amiga». Fazer amizade com uma mulher-polícia era, aos olhos de Aomame, seguir por caminhos perigosos.
– Tive dois filhos – disse a velha senhora –, um rapaz e uma rapariga. Ela era três anos mais nova do que ele. A minha filha morreu. Suicidou-se, como já comentei contigo. Não tinha filhos. O meu filho e eu temos tido os nossos problemas e, por diversos motivos, faz muito tempo que mal nos falamos. Tenho três netos, mas também não os vejo há uma eternidade. No caso de eu morrer, o meu filho e os meus netos herdarão o grosso da minha fortuna, quase automaticamente. Hoje em dia, o testamento já não tem tanto valor como tinha dantes. Ainda assim, disponho de uma fortuna considerável. Se levares por diante esta missão, gostaria de te legar a maior parte desse dinheiro. Não me interpretes mal: a minha intenção não é comprar-te. O que pretendo dizer é que te considero quase minha filha. Quem me dera que fosses a minha verdadeira filha...
Calada, Aomame olhava para o rosto da anciã, que, de repente, como se tivesse acabado de se lembrar de alguma coisa, pousou o copo de xerez em cima da mesa. A seguir, virou-se para trás e contemplou as pétalas brilhantes dos lírios. Encheu os pulmões com a exuberante fragrância das flores antes de voltar a concentrar as suas atenções em Aomame.
– Como referi anteriormente, tinha pensado em requerer a custódia da Tsubasa, mas aconteceu isto e, afinal, acabei por perdê-la. Fiquei de braços cruzados, a vê-la desaparecer, sozinha, no meio das trevas, sem nada poder fazer para o impedir. Nem sequer consegui ajudá-la. E, agora, estou prestes a enviar-te para um lugar perigosíssimo. Oxalá não tivesse de o fazer, acredita; infelizmente, não vejo outro modo de levar o meu propósito avante. Apenas posso oferecer-te a devida compensação.
Aomame escutava com atenção, em silêncio. Quando a velha senhora deixou de falar, fez-se ouvir, vindo do outro lado da porta envidraçada, o canto nítido de um pássaro. Cantou durante algum tempo e depois bateu as asas e voou.
– O importante, agora, é tratar da saúde a esse homem, custe o que custar – disse Aomame. – Agradeço profundamente toda a estima que tem por mim. Sou uma pessoa, e calculo que isto seja do seu conhecimento, que abandonou os pais, por motivos que não vêm ao caso. Melhor dizendo, foram eles que me puseram de lado, era eu pequena. Vi-me forçada a seguir em frente e resignei-me a levar uma vida carente de afeto por parte dos meus familiares. Para sobreviver sozinha, não tive outro remédio senão adaptar o estado de alma a essas circunstâncias. Foram muitas as vezes em que me senti como um trapo. Um desperdício imundo e sem sentido. Daí que as suas palavras de há pouco me toquem imenso. É um pouco tarde para mudar a minha maneira de pensar e o meu estilo de vida. Mas não para a Tsubasa. De certeza que ela ainda pode ser salva. Não desista ainda, peço-lhe por tudo. Não perca a esperança de reencontrar a menina, por favor!
A anciã assentiu com a cabeça.
– Se calhar não me expliquei bem. Longe de estar resignada à minha sorte, tudo farei ao nosso alcance para trazer a Tsubasa de volta. No entanto, como podes ver, encontro-me esgotada. Sou vítima de um profundo sentimento de impotência, por não ter conseguido proteger aquela menina. Ainda precisarei de algum tempo até recuperar a minha velha energia. Por outro lado, pode ser que esteja a ficar demasiado velha. Talvez nunca mais recupere a energia de outros tempos, por muito que espere.
Aomame levantou-se e aproximou-se da velha senhora. Sentou-se no braço do sofá e agarrou na mão elegante e esguia da anciã.
– A senhora é uma verdadeira mulher de armas – disse ela. – Tomara muitas mulheres terem um vigor como o seu. Neste momento, encontra-se desanimada e sem forças. Precisa de se deitar e descansar um bocado. Quando acordar, vai ver que se sentirá como dantes.
– Obrigada – disse a anciã, apertando a mão de Aomame com força. – Pode ser que tenhas razão. Talvez seja melhor dormir um pouco.
– Nesse caso, retiro-me – disse Aomame. – Ficarei a aguardar notícias suas. Entretanto, vou despachar todos os meus assuntos. A bem dizer, não tenho assim tantas «coisas» para pôr em ordem.
– Prepara-te para viajar com pouca bagagem. Se vieres a precisar de alguma coisa, nós depois encarregamo-nos de te arranjar o que for preciso.
Aomame soltou a mão da velha senhora e pôs-se de pé.
– Boa noite. Vai correr tudo bem, tenho a certeza.
A senhora fez um gesto afirmativo com a cabeça e, recostada no cadeirão, fechou os olhos. Aomame voltou a olhar para os peixes-vermelhos no aquário que estava colocado em cima da mesa, aspirou pela última vez o perfume dos lírios e abandonou aquela sala de tetos altos.
Tamaru esperava por ela na entrada. Eram cinco da tarde, mas o Sol continuava lá no alto e não diminuíra em nada a sua intensidade. Aquela luminosidade refletia-se de forma resplandecente nos sapatos de couro negro de Tamaru, impecavelmente engraxados, como sempre. Dispersas no céu viam-se algumas nuvens brancas, daquelas que aparecem no verão, mas dir-se-ia que estavam todas juntinhas num canto, para não estorvar o Sol. Era demasiado cedo para o final da estação das chuvas, mas nos últimos tempos tinham-se sucedido vários dias que evocavam o verão na sua plenitude. Por entre as árvores do jardim escutava-se o chiar das cigarras. Chegava aos ouvidos transformado num suave estrídulo, não demasiado forte; apesar de tudo, tratava-se de um presságio infalível. O mecanismo que fazia mover o mundo funcionava como sempre. As cigarras cantavam, as nuvens de verão desfilavam no céu e os sapatos de Tamaru não tinham um grão de poeira. Aos olhos de Aomame, contudo, que o mundo permacesse assim, tal como era, sem se revelar composto de mudança, parecia-lhe uma nota de particular frescura.
– Tamaru – interpelou ela –, podemos conversar um bocadinho? Tens tempo?
– Claro que sim – respondeu Tamaru. A sua expressão mantinha-se inalterável. – Tempo não me falta, e matá-lo faz parte do meu trabalho.
Tamaru sentou-se numa cadeira de jardim que havia junto à porta. Aomame instalou-se na cadeira ao lado. O beiral do telhado projetava uma sombra fresca e abrigava-os da luz do Sol. Cheirava a erva fresca, acabada de cortar.
– Já aí temos o verão outra vez – observou Tamaru.
– Até as cigarras desataram a cantar – acrescentou Aomame.
– Parece que, este ano, começaram mais cedo do que é costume. O que significa que, durante uns tempos, este lugar voltará a encher-se de barulho. As cigarras fazem uma chinfrineira tal que até os ouvidos começam a doer. Quando estive numa cidade perto das cataratas do Niagara, o ruído era igualzinho a este. Continuamente, sem cessar, de manhã à noite. Como se milhões de cigarras, grandes e pequenas, tivessem desatado a chiar ao mesmo tempo.
– Estiveste nas cataratas do Niagara?
Tamaru assentiu afirmativamente.
– É a cidade mais enfadonha do mundo. Passei lá três dias, durante os quais, tirando o barulho da água a cair, não havia nada para fazer. O ruído era tão ensurdecedor que nem dava para uma pessoa ler.
– E pode saber-se o que fazias tu, ali sozinho, durante três dias a fio?
Tamaru não se dignou responder à pergunta. Limitou-se a fazer um pequeno movimento negativo com a cabeça.
Tamaru e Aomame permaneceram calados por algum tempo, entretidos a escutar o discreto estridular das cigarras.
– Gostaria de te pedir um favor – anunciou Aomame.
Tamaru pareceu mostrar-se interessado. Aomame não era daquelas pessoas que costumavam pedir favores.
A rapariga elaborou um pouco mais:
– Trata-se de um favor um tanto ou quanto fora do vulgar. Espero que não fiques aborrecido.
– Não sei se poderei ajudar-te, mas posso sempre ouvir o que tens para me dizer. Quanto mais não seja, por uma questão de delicadeza, uma vez que estamos a falar de um favor solicitado por uma senhora.
– Preciso de uma arma – disparou Aomame, num tom profissional. – Refiro-me a uma arma que caiba dentro de uma mala de mão, e com um recuo não muito forte, mas, ao mesmo tempo, que tenha suficiente poder destrutivo e que me dê confiança. Não pode ser um desses modelos de imitação nem uma espécie de cópia de fabrico filipino. Conto utilizá-la apenas uma única vez. Uma bala deverá ser suficiente.
Fez-se um silêncio, durante o qual Tamaru não tirou os olhos de Aomame. Olhou para ela fixamente, sem pestanejar.
A seguir, quando falou, esforçou-se por pronunciar as palavras devagar e com todo o cuidado.
– Neste país, a lei proíbe que os cidadãos andem armados, sabes isso, não é verdade?
– Claro que sei.
– Digo isto por mera precaução – prosseguiu Tamaru –, mas gostaria que ficasse claro que nunca fui acusado de nenhum delito. Posto de outro modo, não tenho antecedentes criminais. Pode ser que tenha cometido um ou outro deslize, no que toca à justiça, não o nego, contudo, falando em termos legais, sou um cidadão com um cadastro completamente limpo. Íntegro e sem uma única mancha. Sou homossexual, mas isso não é ilícito. Pago religiosamente os meus impostos, voto nas eleições... se bem que os meus candidatos nunca saiam vencedores. Até as multas de estacionamento foram pagas dentro do prazo, todinhas. E nunca, ao longo dos últimos dez anos, fui mandado parar pela Brigada de Trânsito por excesso de velocidade. Estou inscrito na Segurança Social. Pago a minha taxa de receção da NHK por transferência bancária, possuo um cartão American Express e um MasterCard. Muito embora não esteja nos meus planos, a verdade é que, se quisesse, podia perfeitamente candidatar-me a um empréstimo bancário a trinta anos para comprar casa. E, acredita, saber que preencho estas condições dá-me, todos os dias, imenso gozo. Por outras palavras, posso muito bem ser considerado um pilar da sociedade. Ora, é precisamente a essa pessoa que tu te diriges, no sentido de lhe pedir que te arranje uma arma. Dás-te conta disso?
– Por alguma razão te disse que não me levasses a mal.
– Bem, lá isso é verdade.
– Desculpa ver-me obrigada a recorrer a ti, mas não consegui arranjar mais ninguém.
Tamaru produziu um som estrangulado no fundo da garganta. Seria um suspiro abafado? Aomame não tinha maneira de saber.
– Imaginando que me encontro em posição de poder satisfazer o teu pedido, manda o bom senso que te faça a seguinte pergunta: sobre quem tens intenção de disparar?
Aomame encostou um dedo à testa.
– Aqui, talvez.
Tamaru observou o dedo sem mudar de expressão.
– E, volto à carga, por que razão?
– Não quero ser apanhada – respondeu Aomame. – Não tenho medo de morrer, tão-pouco receio ir parar à prisão, ainda que a ideia não possa ser mais desagradável. Porém, recuso-me terminantemente a ser feita refém e torturada por um bando de desconhecidos. Além de que não quero denunciar ninguém. Faço-me entender?
– Acho que sim.
– Não está nos meus planos disparar sobre uma pessoa, nem assaltar um banco. Por esse motivo, não preciso que me arranjes uma semiautomática de grande calibre, daquelas que disparam vinte tiros de rajada. Quero uma arma compacta e que não dê coice.
– Podes sempre recorrer às drogas ou aos comprimidos. É mais realista do que empunhar uma arma de fogo.
– Demora o seu tempo, entre tomar um comprimido e ele fazer efeito. Antes de conseguir morder uma cápsula com veneno, poderiam ter tempo para me imobilizar e tirar-ma da boca. Dispondo de uma pistola, sempre posso deter a outra pessoa ao mesmo tempo que domino a situação e acabo com tudo.
Tamaru ficou a cismar no que acabava de ouvir. Tinha a sobrancelha direita um nadinha arqueada.
– Se depender de mim, não quero perder-te – disse Tamaru. – A modos que gosto de ti. Isto é, no plano pessoal.
Aomame sorriu.
– Por ser mulher, queres tu dizer?
– Homem, mulher ou cão, não se pode dizer que existam muitos seres humanos que mereçam a minha simpatia – respondeu Tamaru sem mudar de expressão.
– Compreendo o teu ponto de vista – disse Aomame.
– Ao mesmo tempo, o meu dever primordial é proteger a saúde e a segurança da senhora. De certo modo, sou uma espécie de profissional.
– Claro que és.
– Encarando a questão deste ponto de vista, deixa-me ver o que posso fazer. Não te posso garantir nada. Mas, quem sabe?, talvez algum dos meus contactos tenha o perfil da pessoa que procuras para satisfazer os teus requisitos. No entanto, não deixa de ser um assunto muito delicado. Não é propriamente a mesma coisa que comprar um cobertor elétrico por correspondência. Pode demorar uma semana até obter uma resposta.
– Não faz mal – respondeu Aomame.
Tamaru semicerrou os olhos e pôs-se a olhar para cima, em direção ao arvoredo, de onde parecia ter origem o chiar das cigarras.
– Espero que corra tudo bem. No que me diz respeito, e dentro dos limites da razão, farei o que estiver ao meu alcance.
– Obrigada. A próxima missão será, provavelmente, o meu último trabalho. Se calhar, nunca mais nos voltaremos a ver.
Tamaru abriu os braços, com as palmas das mãos viradas para cima, como alguém à espera de que chova no meio do deserto, mas não disse nada. Tinha umas mãos enormes e grossas, cobertas de cicatrizes. Mais do que partes do corpo, as suas mãos pareciam peças de uma metralhadora pesada.
– Não gosto muito de despedidas – confessou Tamaru. – Nem sequer tive oportunidade de me despedir dos meus pais.
– Morreram?
– Não sei se estão vivos ou mortos. Nasci em Sacalina, um ano antes do fim da guerra. A parte sul de Sacalina era uma colónia japonesa, então chamada Karafuto, mas, no verão de 1945, foi ocupada pelas tropas soviéticas, e os meus pais foram feitos prisioneiros de guerra. Tudo indica que o meu pai trabalhava no complexo portuário. Quase todos os prisioneiros civis japoneses foram repatriados pouco depois; aos meus pais, todavia, por serem coreanos que haviam sido recrutados como trabalhadores, não lhes foi permitido regressar. O Governo japonês recusou qualquer responsabilidade por eles, com o pretexto de que, uma vez terminada a guerra, e tendo o Japão sido derrotado, os cidadãos da Coreia tinham deixado de ser súbditos do Império japonês. Que história tenebrosa! O Governo não demonstrou o menor grau de humanidade nem de benevolência. Os que assim o desejavam podiam ir para a Coreia do Norte, mas não os deixavam regressar ao Sul, porque, naquela época, a União Soviética não reconhecia a existência da Coreia do Sul. Os meus pais eram originários de uma aldeia de pescadores situada perto de Pusan e não alimentavam qualquer desejo de ir para o Norte, onde não tinham família nem conheciam ninguém. A mim, então ainda um bebé, deixaram-me entregue a um casal de repatriados japoneses, que me levou com eles para Hokkaido. Naquela época, vivia-se uma grave situação, e convém não esquecer que o tratamento infligido aos prisioneiros por parte do Exército soviético era terrível. Os meus pais tinham outros filhos pequenos e devem ter percebido que seria muito difícil criar-me num lugar daqueles. Calculo que, ao enviarem-me primeiro, sozinho, para Hokkaido, a ideia deles era que nos voltássemos a reunir todos, mais tarde. Ou então queriam pura e simplesmente ver-se livres de mim. Ignoro o que terá acontecido ao certo. Em todo o caso, nunca mais voltámos a encontrar-nos. Não é de afastar a hipótese de eles ainda permanecerem em Sacalina. Isto é, se entretanto não tiverem morrido, claro.
– Não tens nenhuma recordação dos teus pais?
– Não me lembro rigorosamente de nada. Afinal de contas, tinha pouco mais de um ano quando me separei deles. Fiquei com o outro casal durante algum tempo, e depois enviaram-me para um orfanato localizado nas montanhas, fora de Hakodate. Imagino que o tal casal não tivesse meios para tomar conta de mim. O orfanato, dirigido por uma organização católica, era um lugar muito duro para se viver. É bom não esquecer que estávamos no pós-guerra, havia uma quantidade enorme de crianças que tinham ficado órfãs, faltavam alimentos e o aquecimento não era suficiente. Vi-me obrigado a fazer tudo e mais alguma coisa para conseguir sobreviver naquele lugar. – Tamaru deitou uma olhadela rápida para as costas da sua mão direita. – Lá consegui que me adotassem, por pura formalidade, obtive a nacionalidade japonesa e deram-me um nome japonês: Ken’ichi Tamaru. Tudo o que sei, no que respeita ao meu verdadeiro nome, é que me chamo Park. E coreanos chamados Park são tantos como as estrelas no céu.
Aomame e Tamaru estavam sentados lado a lado, escutando o canto das cigarras.
– Devias comprar outro cão – disse Aomame.
– A senhora diz-me a mesma coisa. Que precisamos de outro cão de guarda para vigiar a casa-abrigo. Porém, confesso que ainda não estou preparado para dar esse passo.
– Compreendo como te sentes, mas olha que seria a melhor solução. Digo-te isto apesar de não me considerar a pessoa ideal para dar conselhos aos outros.
– Vou fazer o que dizes – afirmou Tamaru. – Tens razão: é verdade que precisamos de um cão de guarda treinado. Quando puder, a primeira coisa que farei será entrar em contacto com o criador de cães.
Aomame olhou para o relógio de pulso e pôs-se de pé. Faltava algum tempo para o pôr do Sol, mas o céu mostrava já sinais ténues do anoitecer – um tom diferente de azul, crepuscular, começava a mesclar-se com o azul da tarde. Persistiam no seu corpo os efeitos do xerez. A anciã estaria ainda a dormir?
– Tchékhov disse, uma vez – comentou Tamaru, levantando-se da cadeira: – «Nunca deves pôr em cena uma arma carregada se ninguém a vai disparar.»
– Queria dizer o quê, com isso?
Tamaru colocou-se de frente para Aomame, a fim de lhe responder. Era uns centímetros mais alto do que ela.
– Que um adereço não deve ser posto em cena se não fizer lá falta. Se aparece uma pistola, a páginas tantas tem de ser disparada. Tchékhov gostava de escrever histórias despojadas de floreados inúteis.
Aomame endireitou as mangas do vestido e colocou o saco ao ombro.
– Com que então, é isso que te preocupa... Uma vez entrando em cena uma pistola, acabará sem dúvida por ser disparada, mais cedo ou mais tarde.
– Segundo Tchékhov.
– Por isso é que não me querias arranjar uma arma.
– É perigoso e ilegal. Além de que não podemos confiar em Tchékhov.
– Mas isto não é uma história. Estamos a falar do mundo real.
Tamaru semicerrou os olhos e fitou Aomame com intensidade. Quando abriu a boca, saiu-se com um lacónico:
– Quem sabe?
2
TENGO
Tirando a minha alma, não tenho rigorosamente nada
Colocou o disco da Sinfonietta de Janácek no gira-discos e carregou no botão de reprodução automática. Tratava-se de uma gravação da Orquestra Sinfónica de Chicago, dirigida por Seiji Ozawa. O prato começou a rodar a uma velocidade de trinta e três rotações por minuto, o braço moveu-se em direção ao centro e a agulha percorreu as pistas do disco. Então, após a introdução dos metais, o som dos timbales saiu projetado pelas colunas em toda a sua imponência. Era a parte favorita de Tengo.
Enquanto escutava aquela música, ia olhando para os carateres no ecrã do computador. Ouvir a Sinfonietta de Janá?c ek de manhã bem cedo tornara-se um dos seus hábitos diários. Desde que fora chamado a interpretá-la na qualidade de músico substituto, nos seus tempos de estudante, aquela peça ganhara para ele um significado particular. Tinha a impressão de que o encorajava e protegia, a título pessoal. Pelo menos era o que lhe parecia.
Por vezes, também lhe acontecia escutar Janá?c ek na companhia da sua namorada mais velha. «Não está mal», dizia ela, que, no fundo, preferia os velhos discos de jazz à música clássica. Quanto mais antigos, melhor – era a sensação que dava. Um gosto com o seu quê de estranho para uma mulher da idade dela. Manifestava especial predileção por um disco em que Louis Armstrong, ainda jovem, interpretava uma coletânea de blues de W. C. Handy, com Barney Bigard no clarinete e Trummy Young a tocar trombone. Tinha sido a amante a oferecer o disco a Tengo, se bem que mais para o prazer dela.
Depois de fazerem amor, ficavam muitas vezes deitados a ouvir o disco. A amante nunca se cansava daquela música. «A trompete e a voz de Armstrong são fantásticas, claro, mas, se queres a minha opinião, devias prestar especial atenção ao clarinete de Barney Bigard», tinha-lhe dito. Contudo, naquele disco contavam-se pelos dedos os solos de Barney Bigard, e todos eles curtos, limitando-se a um só chorus, já que Louis Armstrong era a vedeta. Verdade seja dita, ela sabia de cor cada um dos poucos solos de Bigard, e mais, trauteava em voz baixa ao mesmo tempo que ele tocava.
Dizia ela que poderia haver outros clarinetistas melhores do que Barney Bigard, mas que se tornava difícil encontrar um que tocasse com tanta sensibilidade e tanto fervor. As suas interpretações – nos seus melhores momentos, como é evidente – tinham o condão de evocar paisagens interiores. Tengo desconhecia a existência de outros clarinetistas de jazz, mas, à força de ouvir aquele disco, começou a apreciar, pouco a pouco, a beleza que possuía, uma beleza fulgurante e nada forçada, traduzida nos solos de clarinete, que alimentava a alma e a imaginação. Para chegar ao fundo desse mistério foi necessário ouvir com muita atenção, repetidas vezes. Também precisou de uma guia competente. Caso se limitasse a escutar o disco sozinho, entregue a si próprio, teria deixado escapar essa profusão de mensagens.
– Barney Bigard tem uma forma de tocar maravilhosa; comparando com o basebol, faz lembrar um jogador de segunda base genial – dissera-lhe ela uma vez. – Os solos são fantásticos, mas, na minha opinião, o seu talento manifesta-se sobretudo quando acompanha os outros, sempre que toca na sombra, em pano de fundo sonoro. Executa passagens extraordinariamente difíceis, como se aquilo fosse a coisa mais fácil do mundo. Só um ouvinte atento é que consegue reconhecer o valor que ele tem.
De cada vez que arrancava a faixa seis do lado B do álbum Atlanta Blues, ela agarrava-se sempre a qualquer parte do corpo de Tengo e entrava em delírio com um solo breve e preciso de Bigard, ensanduichado entre a canção e o solo de Armstrong.
– Presta atenção! Ao princípio, é espantoso, parece uma criança que lança um grito. Será um grito de surpresa? Uma explosão de alegria? Uma declaração de felicidade? Transforma-se num suspiro de satisfação, que abre caminho e serpenteia como um rio de som e nos conduz de maneira natural até algum lugar belo e desconhecido. Vês? Ouves? Mais ninguém consegue interpretar um solo de forma tão comovedora! Jimmie Noone, Sidney Bechet, Pee Wee ou Benny Goodman, todos eles, grandes clarinetistas, são, no entanto, incapazes de criar tão delicadas obras de arte que roçam a perfeição.
– Como é que se explica que saibas tanto acerca de jazz da velha guarda? – perguntara-lhe Tengo numa determinada ocasião.
– Há muitas coisas acerca do meu passado que desconheces. Um passado que ninguém pode reescrever – dissera ela, ao mesmo tempo que acariciava suavemente os testículos de Tengo com a palma da mão.
Depois de dar por terminada a sua manhã de trabalho, Tengo foi passear até à estação e comprou o jornal num quiosque. A seguir, entrou numa cafetaria e mandou vir um pequeno-almoço à base de torradas com manteiga e um ovo cozido. Enquanto esperava que o trouxessem, bebeu café e passou os olhos pelo jornal. Tal como Komatsu tinha previsto, vinha um artigo sobre Fuka-Eri na secção de sociedade. Não era uma peça muito extensa. Aparecia no fim da página, por cima de um anúncio aos carros da marca Mitsubishi. O título rezava assim: «Desaparecimento da Popular Escritora Adolescente?»
Fuka-Eri (de seu verdadeiro nome Eriko Fukada, 17 anos), autora do atual bestseller A Crisálida de Ar, foi dada como desaparecida desde a tarde de ontem. De acordo com o seu tutor, o antropólogo cultural Takauyki Ebisuno (63 anos), que participou o seu desaparecimento na esquadra de Ome, Eriko não terá regressado a sua casa, naquela cidade, nem ao apartamento que possuem na cidade de Tóquio, na noite de 27 de junho, e desde essa altura não voltaram a ter quaisquer notícias dela. Em conversa telefónica, o Sr. Ebisuno declarou que, da última vez que se encontrou com Eriko, a jovem parecia bem-disposta, como sempre, e que desconhecia o motivo que a levaria a desaparecer assim de repente, já que era a primeira vez que não voltava para casa sem ter pedido antes licença, evidenciando ainda a sua preocupação com a possibilidade de lhe ter acontecido alguma coisa. Yuji Komatsu, o editor que publicou A Crisálida de Ar, declarou que «o livro tem ocupado as posições cimeiras na lista dos mais vendidos, durante seis semanas consecutivas, mas a menina Eriko Fukada não gosta de se expor na comunicação social. Na editora, não se sabe até que ponto o desaparecimento corresponde a este seu traço de personalidade. Fukada é uma jovem escritora cheia de talento e com um futuro promissor. Esperamos todos que ela regresse quanto antes ao nosso convívio, sã e salva». A polícia prossegue entretanto as suas investigações, considerando as diversas hipóteses.
Tengo imaginou que, na fase em que se encontravam, pouca ou nenhuma informação mais o jornal poderia adiantar. Se abordassem o caso de maneira sensacionalista e Fuka-Eri regressasse, sã e salva, o escriba de serviço cairia no ridículo e o jornal perderia a sua reputação. O mesmo podia dizer-se da polícia. Primeiro, faziam ambos declarações breves e neutras, tipo balões meteorológicos usados para prever o tempo, à espera de ver no que a coisa ia dar. O interesse na história aumentaria assim que a imprensa semanal lhe desse cobertura e a televisão fizesse eco da notícia. O que significava que ainda havia alguns dias de tréguas.
Mais cedo ou mais tarde, a situação tornar-se-ia explosiva, disso não restavam dúvidas. A Crisálida de Ar convertera-se num best-seller, e Fuka-Eri, a sua autora, era uma bonita jovem de dezassete anos que atraía as atenções de muito boa gente. Encontrava-se desaparecida, em parte incerta. Era impossível que não se armasse um grande circo mediático à volta do sucedido. Apenas quatro pessoas no mundo sabiam que Fuka-Eri não tinha sido raptada, mas que se encontrava simplesmente escondida num lugar que só ela conhecia. Tengo estava a par de tudo, escusado será dizer, assim como o Professor Ebisuno e a sua filha Azami. Ninguém mais sabia que o desaparecimento não passava de um estratagema para desviar as atenções generalizadas.
Tengo estava indeciso, sem ter a certeza se devia alegrar-se ou inquietar-se por saber a verdade. Se calhar, mais valia ficar contente, pois a verdade era que não havia motivos para estar preocupado com ela. Fuka-Eri encontrava-se em segurança. Ao mesmo tempo, porém, era como se o conhecimento que tinha da situação o tornasse cúmplice em toda aquela maquiavélica trama. O Professor Ebisuno erguera um enorme e sinistro pedregulho, com a ajuda de uma alavanca, e estava à espreita para ver o que sairia de debaixo dele quando ficasse exposto à luz do Sol. Contrariado, Tengo mantinha-se ao seu lado. Não sentia qualquer interesse em saber o que ia acontecer. Se fosse possível, preferia nem sequer ver. Era de esperar que só pudesse resultar numa fonte de problemas. Palpitava-lhe que não havia maneira de escapar.
Depois de ter bebido o café e comido as torradas e o ovo, Tengo pousou o jornal, deixou-o ficar em cima da mesa e saiu da cafetaria. Regressou ao apartamento, lavou os dentes, tomou um duche e preparou-se para regressar às aulas.
Ao meio-dia, durante o intervalo do almoço, Tengo recebeu na escola a visita de um desconhecido. Acabara de dar as aulas da manhã e encontrava-se a descansar na sala de professores, aproveitando para passar os olhos pela edição matutina dos jornais que ainda não lera, quando a secretária do diretor lhe apareceu à frente e disse que alguém pretendia falar com ele. Tratava-se de uma mulher competente, um ano mais velha do que Tengo, e que, apesar de ter apenas o título de secretária, se encarregava basicamente de todas as tarefas administrativas relacionadas com a gestão da escola. Faltava aos traços do seu rosto aquele toque de harmonia que faria dela uma mulher bonita, mas era bem proporcionada e tinha excelente gosto para se vestir.
– É um senhor que diz chamar-se Ushikawa – adiantou ela.
Aquele nome não lhe dizia nada.
Por qualquer razão que lhe escapava, a mulher enrugou ligeiramente a testa.
– Disse que se tratava de um assunto «muito importante» e que, se possível, gostaria de falar contigo a sós.
– Um assunto importante?! – exclamou Tengo, surpreendido. Não se lembrava de lhe ter aparecido alguma vez na escola uma pessoa, em pleno dia de aulas, para discutir com ele assuntos importantes.
– Como a sala de visitas estava vazia, conduzi-o até lá e convidei-o a sentar-se. Em princípio, os docentes não deveriam utilizar a sala sem autorização, mas visto tratar-se de uma exceção...
– Obrigado – disse Tengo, esboçando o seu melhor sorriso.
Sem olhar sequer para ele, a secretária deu meia-volta e afastou-se num passo ligeiro, com a bainha do seu novo casaco de verão Agnès B. a esvoaçar atrás dela.
Ushikawa era um homem de estatura baixa, que aparentava ter à volta de quarenta e cinco anos. A cintura há muito que deixara de estar definida e a gordura acumulara-se em redor do pescoço, formando uma papada razoável. No entanto, Tengo não conseguia dizer ao certo qual a idade do homem, já que, devido à particularidade (ou à estranheza) das suas feições, tornava-se difícil reunir os elementos que permitissem adivinhar quantos anos tinha. Parecia mais velho e, ao mesmo tempo, parecia mais novo. Se alguém se lançasse a adivinhar e dissesse uma idade compreendida entre os trinta e dois e os cinquenta e seis anos, o seu interlocutor não teria outro remédio senão acreditar. Tinha os dentes em mau estado e as costas apresentavam uma curvatura bizarra. O cimo da sua calva, achatada de uma forma pouco natural, apresentava os lados disformes. A parte lisa fazia-lhe lembrar um heliporto militar construído estrategicamente no alto de uma pequena colina. Tengo vira alguns num documentário sobre a Guerra do Vietname. Dos lados daquela cabeça chata e deformada cresciam grossos pelos hirsutos, de um negro intenso, que se prolongavam mais do que o necessário, ao ponto de lhe taparem as orelhas de forma desencontrada. Em cada cem pessoas, noventa e oito associariam, provavelmente, aqueles pelos ao púbis. O que pensariam as outras duas pessoas, Tengo não fazia a mínima ideia.
A julgar pela fisionomia e pelas feições, tudo naquele indivíduo parecia completamente assimétrico. Foi a primeira coisa em que Tengo reparou. É evidente que todas as pessoas têm as suas assimetrias, em maior ou menor grau, e que isso não contraria necessariamente as regras da Natureza. A forma das próprias pálpebras, a esquerda e a direita, diferia ligeiramente. O seu testículo esquerdo ficava um nadinha mais descaído do que o direito. Os nossos corpos não são produzidos em massa numa fábrica, segundo um único modelo. No caso daquele indivíduo, porém, as diferenças entre o lado esquerdo e o lado direito transcendiam o domínio do racional. Esse desajuste das proporções, evidente aos olhos de qualquer um, irritava forçosamente e causava um mal-estar tal como quando uma pessoa se coloca diante de um espelho deformado (e, apesar disso, terrivelmente nítido), daqueles que existem nas feiras populares.
O fato cinzento que trazia vestido apresentava um sem-fim de pequenas rugas. Fazia pensar numa superfície de terra alvo de uma erosão glaciária. Tinha uma parte do colarinho da camisa espetada para cima, e o nó da gravata estava fora do sítio, como se, ao mostrar-se assim retorcido, manifestasse o desagrado por ter de se encontrar ali. Tanto o fato como a camisa e a gravata eram cada um de sua nação, para além de terem tamanhos desirmanados. O desenho da gravata poderia ser uma versão impressionista de uma tigela de somen1, cheia de fios de massa enredados e espapaçados, realizada por um estudante de arte medíocre. Todos os artigos pareciam comprados em saldos. Ao observar demoradamente aquelas peças de roupa, Tengo deu por si quase a sentir pena delas, atendendo ao dono que lhes tinha calhado em sorte. Não sendo pessoa que desse muita atenção à roupa, Tengo preocupava-se, por estranho que isso possa parecer, com a maneira como os outros andavam vestidos. Era, digamos assim, um traço da sua personalidade. Se tivesse de eleger as pessoas mais mal vestidas, no meio de toda a gente que conhecera nos últimos dez anos, aquele homem figuraria por certo nos primeiros lugares da lista. Não era apenas uma questão de se apresentar com uma vestimenta horrorosa; dava a impressão de profanar deliberadamente a própria noção de moda.
Quando Tengo entrou na sala de visitas, o indivíduo levantou-se, tirou da carteira um cartão de visita e entregou-lho com uma pequena vénia. No cartão figurava o seu nome e o apelido escrito em ideogramas. Por baixo, em carateres latinos, aparecia: TOSHIHARU USHIKAWA. O primeiro nome era vulgar, mas Ushikawa2? «Rio do Touro»? O cartão indicava que o homem era diretor-geral da Nova Associação para o Desenvolvimento das Ciências e das Artes do Japão, cuja sede fiscal ficava em Kojimachi, no distrito de Chiyoda, e até vinha o número de telefone. Tengo não fazia ideia de que tipo de entidade se tratava, nem em que poderia consistir o chamado cargo de diretor-geral. Uma coisa era certa: o cartão de visita tinha uma apresentação muito cuidada, com o anagrama gravado em relevo; via-se logo que se tratava de um artigo personalizado. Depois de estudar o cartão de visita por instantes, Tengo voltou a olhar para o sujeito à sua frente e pensou que, muito provavelmente, não devia haver ninguém no mundo que produzisse uma impressão tão pouco em consonância com o título de diretor-geral da Nova Associação para o Desenvolvimento das Ciências e das Artes do Japão.
Sentaram-se ambos, cada um na sua poltrona, separados por uma mesa baixa, e ficaram de frente um para o outro. O homem utilizou um lenço para limpar com movimentos enérgicos o suor da testa, após o que tornou a guardar o lenço no bolso do casaco. A funcionária da secretaria apareceu com duas taças de chá verde num tabuleiro. Tengo agradeceu. Ushikawa não disse nada.
– Peço imensa desculpa por vir importuná-lo precisamente num momento em que estava a descansar, ainda por cima sem ter hora marcada – declarou Ushikawa. Utilizava uma linguagem polida, mas havia uma nota de familiaridade que soava, aos ouvidos de Tengo, quase como uma ofensa. – Já almoçou? Se quiser, podemos ir comer qualquer coisa e aproveitamos para conversar.
– Nunca almoço quando estou a trabalhar – retorquiu Tengo. – A seguir às aulas da tarde, como qualquer coisa, não se preocupe.
– Nesse caso, se estiver de acordo, falamos aqui mesmo. Tenho a impressão de que este local é perfeito e de que estão reunidas as condições para termos uma conversa tranquila.
Ao dizer aquilo, o sujeito olhou em redor, como se estivesse a avaliar o espaço. Não se podia dizer que fosse uma sala imponente. Na parede estava pendurado um grande quadro a óleo representando uma montanha qualquer. Mais impressionante do que o quadro em si mesmo era a quantidade de cores utilizadas. Dentro de um vaso viam-se flores parecidas com dálias – tinham um ar vagamente murcho, que fazia pensar em certas mulheres de meia-idade desprovidas de interesse. Tengo não compreendia por que carga-d’água existia uma sala tão lúgubre como aquela numa escola particular que se destinava a preparar os alunos para os exames de acesso ao ensino superior.
– Esqueci-me de me apresentar como mandam as regras. O meu apelido é Ushikawa, como pode ver no cartão de visita. Ushi, os amigos chamam-me Ushi. Ninguém me chama Ushikawa, só Ushi – afirmou Ushikawa com um sorriso.
Amigos? Que diabo... quem é que poderia fazer amizade com um tipo daqueles?, interrogou-se Tengo, assaltado pela curiosidade.
Para ser honesto, Tengo tinha de reconhecer que a primeira impressão provocada por Ushikawa era a de qualquer coisa de repugnante, saída a rastejar de um buraco escuro no meio da terra. Algo peganhento e viscoso, sem forma definida, que nunca deveria ter visto a luz do dia. Se calhar, aquele homem era uma das coisas que o Professor Ebisuno atraíra para o exterior, ao levantar a tal rocha. Tengo enrugou a testa de forma involuntária e pousou em cima da mesa o cartão que ainda conservava na mão. Toshiharu Ushikawa, assim se chamava a criatura.
– Calculo que esteja ocupado, senhor Kawana, de maneira que vou dispensar o preâmbulo e ir direito ao que interessa – anunciou Ushikawa.
Tengo assentiu ligeiramente com a cabeça.
Ushikawa deu um gole no chá e, a seguir, atacou o assunto.
– Calculo que nunca tenha ouvido falar na Nova Associação para o Desenvolvimento das Ciências e das Artes do Japão. – Tengo assentiu. – Trata-se de uma fundação criada há relativamente pouco tempo, que se dedica a selecionar jovens que contribuem com o seu trabalho original para o desenvolvimento nas áreas das ciências e das artes, sobretudo gente pouco conhecida do grande público, a fim de lhes oferecer apoio. Por outras palavras, pode dizer-se que formamos jovens que irão constituir as próximas gerações nos mais diversos âmbitos da cultura contemporânea japonesa. Contratamos investigadores especializados em cada ramo, que, por seu turno, nos propõem os seus candidatos. Todos os anos, são escolhidos cinco artistas ou investigadores, que recebem uma bolsa. Durante um ano, podem dedicar-se ao que lhes interessa. Não existe qualquer tipo de condição. Só lhes é pedido que nos entreguem um relatório meramente formal, em que terão de dar conta, por escrito e de forma concisa, do trabalho que realizaram e dos resultados obtidos. Os relatórios serão publicados na revista editada pela nossa fundação. Não existe qualquer tipo de obrigação. Uma vez que iniciámos a atividade recentemente, a nossa prioridade consiste em apresentar resultados palpáveis. Ou seja, ainda nos encontramos na fase de semear para colher. No que toca ao vil metal, a bolsa anual que oferecemos a cada candidato é de três milhões de ienes.
– Uma soma mais do que generosa – comentou Tengo.
– Demora tempo e é preciso dinheiro para conseguir criar uma obra significativa ou descobrir um projeto com alguma envergadura. Isto não quer dizer, claro, que tempo e dinheiro, só por si, sejam garantia de resultados extraordinários. Em todo o caso, mal não fazem. O tempo, sobretudo, a quantidade de tempo de que dispomos é limitada. O relógio não deixa de marcar as horas. Tic-tac. O tempo voa. As oportunidades perdem-se. Contudo, quando se tem dinheiro, uma pessoa pode comprar tempo. Até pode comprar a liberdade, se quiser. O tempo e a liberdade são o que de mais importante o ser humano pode comprar com dinheiro.
Ao escutar aquilo, Tengo olhou de forma quase automática para o seu relógio de pulso. Na verdade, o tempo corria célere. Tic-tac.
– Desculpe o tempo que lhe roubei – acrescentou precipitadamente Ushikawa, interpretando o gesto de Tengo como uma espécie de protesto. – Vou direito à questão. Como é evidente, três milhões de ienes não servem para se levar uma vida de luxo, nos dias que correm, mas sempre deverá ser suficiente para permitir a alguém que está em princípio de vida pagar as suas contas e ir-se mantendo à tona, com uma certa margem de conforto. O nosso propósito, desde a primeira hora, é permitir que os jovens não sejam obrigados a matar-se a trabalhar para ganhar a vida e, mais do que isso, que possam concentrar-se em pleno no trabalho de pesquisa e de criação durante um ano. Se o nosso conselho de administração considerar, na avaliação feita ao fim de doze meses, que durante esse período os resultados obtidos foram satisfatórios, existe a possibilidade de a bolsa ser renovada durante mais tempo, de maneira regular.
Tengo aguardou em silêncio que o outro prosseguisse.
– No outro dia, tomei a liberdade de assistir a uma aula sua e estive a ouvi-lo falar durante uma boa hora – afirmou Ushikawa. – A verdade é que foi muito interessante. Confesso que sou completamente leigo na matéria, isto para não dizer que sou alérgico à Matemática e que sempre detestei essas aulas, desde pequeno, quando andava a estudar. Bastava ouvir a palavra «matemática» para me começar logo a contorcer com dores... Só me dava vontade de virar costas e fugir a sete pés. Agora, deixe-me que lhe diga, senhor Kawana, a sua aula... Ah, deixou-me rendido! Apesar de não entender nada da lógica do cálculo infinitesimal, ao escutar as suas explicações senti vontade de me pôr imediatamente a estudar Matemática. Foi extraordinário, acredite. Pode orgulhar-se de possuir um talento fora do comum. Poderia mesmo dizer-se que se trata de um talento capaz de atrair e arrastar as pessoas. Tinha ouvido dizer que o senhor era um professor muito popular, e agora compreendo porquê.
Tengo ignorava quando e onde tivera Ushikawa oportunidade de assistir a uma das suas aulas. Cultivava o hábito de observar com atenção as pessoas que frequentavam a sala de aula. Ainda que não se lembrasse da cara de todos os alunos, a presença de alguém com uma aparência tão singular como a de Ushikawa por certo não lhe teria escapado. A figura de Ushikawa daria tanto nas vistas como uma centopeia num açucareiro. No entanto, decidiu não pedir qualquer explicação. Só faria com que a conversa se eternizasse.
– Como deve saber, sou apenas um professor contratado pela escola que prepara os alunos para os exames à faculdade, nada mais – adiantou Tengo, a fim de ganhar algum tempo. – Não me dedico à investigação no campo da Matemática, nem nada que se pareça. A única coisa que procuro fazer é pegar nos ensinamentos que entretanto adquiri e devolvê-los aos meus alunos, de uma maneira divertida e fácil de entender. Ensino-lhes métodos eficientes para resolver os problemas que lhes poderão surgir pela frente na prova de acesso à universidade. Tenho jeito para isso, talvez. Contudo, há muito que abandonei a ideia de me tornar investigador. Para além de não possuir os meios económicos necessários, creio que não tenho nem o talento nem a capacidade para fazer carreira no mundo académico. Nesse sentido, senhor Ushikawa, não me parece que esteja em posição de lhe ser útil.
Ushikawa apressou-se a erguer a mão e virou a palma para Tengo.
– Não, não se trata disso. Talvez não me tenha explicado bem. Peço desculpa. As suas aulas de Matemática são, com efeito, muito interessantes. Sou sincero quando digo que as considero únicas e originais. Porém, não é esse o assunto que hoje aqui me traz. O nosso interesse prende-se com o seu trabalho como escritor, senhor Kawana.
Aquilo apanhou Tengo de tal modo desprevenido, que ele ficou sem saber o que dizer durante alguns segundos.
– O meu trabalho como escritor? – repetiu Tengo.
– Exatamente.
– Não compreendo muito bem o que me está a querer dizer. É certo que durante todos estes anos sempre escrevi ficção, mas nada foi ainda publicado. Não creio que se possa chamar escritor a alguém como eu. Como é que se lembraram da minha pessoa?
Perante a reação de Tengo, Ushikawa esboçou um sorriso malicioso, mostrando a horrível dentadura. Os dentes estavam tortos em diferentes ângulos, projetados cada um em sua direção e manchados com distintos tipos de sujidade, fazendo lembrar estacas fustigadas por ondas fortes numa praia, durante dias a fio. Talvez já fosse demasiado tarde para os arranjar, mediante um tratamento de ortodontia, mas, pelo menos, alguém deveria ensinar aquele homem a lavar bem os dentes.
– Aí tem precisamente o que distingue a nossa fundação, a sua marca original, por assim dizer – afirmou Ushikawa, todo ufano. – Os investigadores que trabalham para nós estão atentos àquilo em que ninguém reparou. É esse um dos nossos objetivos. Como acaba de dizer, não foi publicada nenhuma obra da sua lavra. Temos perfeita consciência disso. Até hoje, apresentou-se todos os anos, sob pseudónimo, ao prémio para jovens escritores promovido por uma revista literária. Ainda não ganhou qualquer galardão, infelizmente, se bem que por mais de uma ocasião tenha logrado chegar à fase final. E, naturalmente, houve muito boa gente que, tendo lido a sua prosa, reparou em si. Algumas pessoas acreditam no seu talento. O nosso investigador é da opinião de que, num futuro próximo, o Tengo irá sem dúvida ganhar o prémio e estrear-se como autor. Chamar ao que eu estou a fazer «investir no futuro» talvez seja uma forma um tanto ou quanto crua de colocar a questão, mas, tal como lhe disse antes, o nosso propósito sempre foi o de «cultivar as jovens promessas que irão dar corpo à geração seguinte».
Tengo pegou na sua taça e bebeu um pouco de chá frio.
– Portanto, está a querer dizer-me que sou candidato à vossa bolsa, apesar de ser um escritor novato. É isso?
– É isso mesmo. Apesar de lhe chamarmos candidato, na realidade já está tudo praticamente decidido. Se me disser que aceita, considero o assunto encerrado, pela parte que nos diz respeito, e estou autorizado a colocar um ponto final nesta conversa. Se quiser assinar os documentos necessários, procederemos de imediato à transferência bancária dos três milhões de ienes. Poderá solicitar uma licença sem vencimento aqui na escola e dedicar-se à escrita durante seis meses ou um ano inteiro. Ouvimos dizer que se encontra a escrever um romance longo. Não lhe parece uma oportunidade única, ora diga lá?
Tengo franziu o sobrolho.
– Como é que sabe que estou a escrever um romance?
Ushikawa tornou a rir-se com os dentes todos. Reparando com atenção, porém, os seus olhos não sorriam. A luz que brilhava no fundo das suas pupilas era puro gelo.
– Os nossos investigadores são competentes e trabalhadores. Escolhem uns quantos candidatos e examinam o perfil deles a fundo, de todos os ângulos. Imagino que várias pessoas que lhe são próximas saibam que se encontra a escrever esse tal romance. As notícias espalham-se...
Komatsu sabia que Tengo estava a escrever um romance, e o mesmo acontecia com a sua namorada mais velha. Quem mais poderia saber? Em princípio, ninguém.
– Gostaria de lhe fazer algumas perguntas acerca da associação a que preside. Posso? – perguntou Tengo.
– Força. Pergunte o que quiser.
– De onde provêm os vossos fundos?
– Há um particular que nos disponibiliza o capital. Ou talvez devesse dizer que existe uma organização liderada por essa pessoa. Na prática, e gostaria que isto ficasse entre nós, esse capital também beneficia de condições fiscais vantajosas. Além de que, como é evidente, esse tal indivíduo alimenta um grande interesse pelas artes e pelas ciências e pretende apoiar as novas gerações. E mais não lhe posso adiantar. Estamos a falar de uma pessoa que deseja permanecer no anonimato, o que inclui a organização a que pertence. Tudo o resto, nomeadamente a gestão do capital, está entregue ao comité da nossa fundação. Resta acrescentar que este seu humilde servo é um dos membros.
Tengo esforçou-se por pensar um pouco em tudo aquilo, mas, a bem dizer, não havia matéria para grandes reflexões. Contentou-se, pois, em ordenar mentalmente os dados lançados por Ushikawa.
– Importa-se que fume? – perguntou Ushikawa.
– Faça favor – respondeu Tengo, empurrando na direção do outro um pesado cinzeiro de vidro.
Ushikawa tirou do bolso do casaco um maço de Seven Stars, levou um cigarro à boca e acendeu-o com um isqueiro banhado a ouro. Um objeto fino e com todo o ar de ter custado os olhos da cara.
– Que me diz, senhor Kawana? – indagou Ushikawa. – Dá-nos a honra de aceitar ser nosso bolseiro? Honestamente, e falando em meu nome, depois de ter assistido com tanto gosto a uma aula dada pelo meu amigo, confesso que sinto grande curiosidade em ver por que universos literários se aventurará no futuro.
– Agradeço a sua proposta – disse Tengo. – É uma honra que não mereço. No entanto, lamento informar que não a posso aceitar.
Ushikawa olhou para Tengo de frente, com os olhos meio fechados, enquanto o fumo do seu cigarro se escapava por entre os dedos.
– Existe uma razão concreta para tal?
– Em primeiro lugar, não quero receber apoio financeiro de alguém que não conheço de lado nenhum. Em segundo lugar, da forma como as coisas estão, por agora não preciso de dinheiro. Trabalho aqui na escola durante três dias por semana e, no resto do tempo, dedico-me à escrita. Gosto das coisas como estão, confesso. Não tenho vontade de mudar de vida.
Em terceiro lugar, Ushikawa, não tenho a mínima vontade de me relacionar contigo e com os da tua laia. Em quarto lugar, a história da bolsa cheira-me a esturro. É bom demais para ser verdade. Não me considero propriamente a pessoa com o instinto mais apurado do mundo, é certo, mas até eu consigo ir lá pelo cheiro. Foi isto que Tengo pensou mas não disse.
– Estou a perceber – atalhou Ushikawa. A seguir, encheu os pulmões de fumo e expulsou-o com visível satisfação. – Compreendo a sua lógica. Deixe-me que lhe diga, senhor Kawana, que não é preciso que me dê uma resposta definitiva agora, neste preciso momento. Porque é que não vai para casa e pensa melhor, com calma, durante dois ou três dias? Depois poderá tomar uma decisão mais ponderada. Pela nossa parte, não temos pressa. Olhe que não é uma oferta que possa recusar assim do pé para a mão...
Tengo fez um movimento com a cabeça para dizer categoricamente que não.
– Agradeço, mas a firme decisão que acabo de tomar poupa tempo e trabalho a ambos. É uma honra ter sido escolhido como candidato à bolsa, e agradeço muito que se tenha deslocado até aqui de propósito para me comunicar isso mesmo. Peço desculpa, mas esta decisão é definitiva e não voltarei atrás com a minha palavra.
Ushikawa assentiu várias vezes e, com uma expressão pesarosa, apagou o cigarro no cinzeiro, depois de ter dado duas fumaças.
– Muito bem. Compreendo o que me diz e não tenho outro remédio senão respeitar a sua vontade, senhor Kawana. Desculpe ter-lhe roubado tanto tempo. Com grande pena minha, está na hora de me retirar. Bom, vou deixá-lo em paz.
Apesar de ter dito aquilo, Ushikawa não deu mostras de querer levantar-se. Limitou-se a coçar a nuca, mantendo os olhos semicerrados.
– Talvez não se dê conta, senhor Kawana, mas olhe que, enquanto escritor, antevejo-lhe um futuro brilhante. Você tem talento, meu jovem. Pode ser que a matemática e a literatura não estejam diretamente relacionadas, mas, quando uma pessoa frequenta as suas aulas, é como se estivesse a escutar uma história. E isso nem toda a gente consegue assim com tanta facilidade. O meu amigo tem coisas especiais para contar. Até uma pessoa como eu é capaz de ver isso. Portanto, tome cuidado consigo. Desculpe se estou a exceder as minhas competências e me meto onde não sou chamado, mas aconselho-o a seguir o seu próprio caminho, com determinação, e a não se deixar ir em conversas.
– Em conversas? – repetiu Tengo.
– Por exemplo... como é que eu posso dizer isto... parece que está de certa maneira relacionado com a Eriko Fukada, a autora da obra A Crisálida de Ar. Bom, refiro-me ao facto de já terem sido vistos juntos em várias ocasiões, se não me engano. Por coincidência, li num artigo publicado no jornal de hoje que ela se encontra desaparecida. Os meios de comunicação social devem estar a montar o circo do costume, imagino, porque se trata de um assunto que certamente irá dar pano para mangas.
– E qual é o problema de eu me encontrar com a Eriko Fukada?
Ushikawa tornou a levantar a palma da mão e a acená-la diante de Tengo. Tinha mãos pequenas, mas os dedos eram grossos e roliços.
– Por favor, homem, não vale a pena ficar ofendido, venho aqui sem segundas intenções. O que pretendo dizer é que vender o tempo e o talento para ganhar a vida nunca dá bom resultado. Perdoe a minha sinceridade, não gostaria de ver esse talento, aos meus olhos um verdadeiro diamante em bruto, delapidado e transformado numa pedra sem valor, tudo por coisas sem importância. Se a relação entre o Tengo e a menina Fukada viesse a público, de certeza que os jornalistas acabariam por descobrir a sua existência... O que equivale a dizer que desatariam a persegui-lo e arranjariam maneira de dar a volta ao texto, independentemente de terem ou não matéria para tal. Aquilo é gente muito obstinada, como sabe.
Tengo ficou calado, sem deixar de fixar o visitante. Ushikawa fechou ainda mais os olhos e coçou com força os lóbulos das orelhas. Apesar de ter umas orelhas pequenas, os lóbulos eram anormalmente grandes. Por mais que olhasse para a fisionomia daquele homem, nunca se cansaria de apreciar a estranheza das suas feições.
– Não, não fique a pensar mal de mim – insistiu Ushikawa –, não serei eu o responsável. Da minha boca não sairá nem uma palavra. – Ao dizer aquilo, fez o gesto de correr um fecho-ecler sobre os lábios. – Juro. Há até quem diga que eu devo ter sido uma ostra, numa vida anterior. Tratarei de guardar essa informação bem guardada, no mais fundo da minha alma. Como símbolo da simpatia pessoal que nutro por si, Tengo.
Feito aquele discurso, Ushikawa levantou-se por fim do sofá e esforçou-se por alisar as rugas finíssimas que tinha no fato. O gesto, porém, em vez de conseguir o seu intento, teve o condão de torná-las ainda mais evidentes.
– Caso mude de ideias em relação à bolsa, pode entrar em contacto comigo a qualquer altura, através do número de telefone que aparece no cartão. Ainda vai muito a tempo. Se este ano não for possível, fica para o ano. – Ao dizer aquilo, o homem representou a Terra a girar em redor do Sol, valendo-se dos dois indicadores levantados. – Pela parte que nos toca, não temos pressa. Ao menos, tive a oportunidade de o conhecer, de ter consigo esta pequena conversa, e creio que recebeu a mensagem que lhe queríamos transmitir.
A seguir, Ushikawa tornou a rir-se entre dentes e, depois de fazer gala da sua dentadura em mau estado, deu meia-volta e abandonou a sala de visitas.
* * *
Tengo aproveitou o tempo livre até à aula seguinte para matutar no que Ushikawa lhe tinha dito, esforçando-se por reproduzir mentalmente as palavras dele na sua cabeça. Aquele homem parecia saber que Tengo participara na reescrita do romance A Crisálida de Ar. Tudo na sua maneira de falar dava a entender isso. «O que pretendo dizer é que vender o tempo e o talento para ganhar a vida nunca dá bom resultado», dissera Ushikawa, em tom provocador.
«Nós sabemos»: era essa a mensagem transmitida.
«Pela parte que nos toca, não temos pressa. Ao menos, tive a oportunidade de o conhecer, de ter consigo esta pequena conversa, e creio que recebeu a mensagem que lhe queríamos transmitir.»
Dar-se-ia o caso de terem enviado Ushikawa, incumbido de oferecer a Tengo uma proposta no valor de três milhões de ienes, para lhe levar essa mensagem, e única e simplesmente por isso? Era uma história sem pés nem cabeça. Não era preciso engendrar um plano tão intricado, uma vez que eles já conheciam qual o seu ponto vulnerável. Se tivessem querido ameaçar Tengo, bastar-lhes-ia mencioná-lo à partida. Ou acaso estariam a tentar comprá-lo, recorrendo, para o efeito, à tal «bolsa»? De qualquer maneira, tudo aquilo era demasiado teatral. E, que diabo!, quem eram eles? Teria a Nova Associação para o Desenvolvimento das Ciências e das Artes do Japão alguma coisa que ver com a Vanguarda? Existiria uma organização com aquele nome?
Tengo pegou no cartão de visita de Ushikawa e foi ter com a secretária.
– Posso pedir-te um favor? – perguntou ele.
– De que se trata? – quis saber ela, por sua vez, continuando sentada e levantando a cabeça.
– Gostaria que telefonasses para este número, para saber se é da Nova Associação para o Desenvolvimento das Ciências e das Artes do Japão. Já agora, pergunta se o diretor, o senhor Ushikawa, se encontra nas instalações. Como o mais provável é responderem que não, nesse caso pergunta a que horas será possível encontrá-lo. Se quiserem saber o teu nome, diz a primeira coisa que te vier à cabeça. Não me importava de fazer isso, o único problema é que poderiam reconhecer a minha voz.
A secretária marcou o número de telefone. Como seria de esperar, alguém respondeu do outro lado, seguindo-se uma breve e concisa troca de palavras entre duas pessoas, ambas profissionais do mesmo ramo.
– A Nova Associação para o Desenvolvimento das Ciências e das Artes do Japão existe, de facto. Quem atendeu foi uma mulher, que deve ter vinte e poucos anos, imagino que será uma vulgar rececionista. Bastante cordial, se queres que te diga. Ushikawa trabalha ali, realmente. Deverá regressar ao escritório por volta das três e meia da tarde. Enfim, não perguntaram o meu nome, coisa que eu teria feito, como é óbvio...
– Óbvio – concordou Tengo. – Obrigado por tudo.
– De nada – disse ela, devolvendo-lhe o cartão de Ushikawa. – A propósito, o tal Ushikawa não é o homem que esteve aqui ainda há bocado?
– Sim, é esse mesmo.
– Só o vi de relance, mas pareceu-me um tanto sinistro.
Tengo guardou o cartão de visita na carteira.
– Suspeito bem que essa impressão não se desvaneceria, mesmo que tivesses oportunidade de olhar melhor para ele.
– Por regra, não gosto de julgar as pessoas apenas com base na sua aparência. Já me aconteceu enganar-me, e depois arrependo-me sempre. Neste caso em particular, bastou-me um único olhar para sentir que não era pessoa em quem se pudesse confiar. E ainda continuo a pensar o mesmo.
– Não és a única a pensar isso – afirmou Tengo.
– Não sou a única a pensar isso – repetiu ela, como se comprovasse a precisão gramatical da frase enunciada por Tengo.
– Esse casaco é lindíssimo – observou Tengo. Não se tratava de um elogio destinado a conquistar a simpatia dela; era o que ele achava. Depois de ver o fato baratucho e cheio de vincos de Ushikawa, aquele elegante casaco de linho possuía, aos seus olhos, o efeito de um bocado de tecido caído do céu numa tarde sem vento.
– Obrigada – disse ela.
– O facto de termos conseguido ligação e de alguém ter respondido do outro lado não quer dizer que essa tal Nova Associação para o Desenvolvimento das Ciências e das Artes do Japão exista na realidade – afirmou Tengo.
– Isso é verdade. Poderia não passar tudo de um esquema muito bem montado. Para o efeito, bastaria instalar um telefone e contratar uma pessoa para atender as chamadas. É o que acontece no filme A Golpada. Mas por que razão se dariam a todo esse trabalho? Não me leves a mal, Tengo, mas não tens propriamente ar de ser um tipo carregado de massa, ao ponto de haver quem te esteja a extorquir dinheiro.
– A não ser a minha alma – confirmou Tengo –, não tenho nada.
– Já estou a ver Mefistófeles a entrar em cena – disse ela.
– Se calhar, deveria ir até à morada indicada e verificar se o escritório existe mesmo.
– Avisa-me quando descobrires alguma coisa – pediu ela, ao mesmo tempo que inspecionava, de olhos semicerrados, as unhas bem tratadas pela manicura.
A dita associação existia na verdade. Assim que deu as aulas por terminadas, Tengo apanhou o comboio e seguiu até Yotsuya, e daí foi a pé em direção a Kojimachi. Quando chegou ao endereço que vinha inscrito no cartão, deparou-se com uma placa metálica, à entrada de um prédio de quatro andares, em que se lia: NOVA ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES DO JAPÃO. Os escritórios ficavam no terceiro andar. Nesse mesmo piso encontravam-se as sedes da editora musical Mikimoto e o escritório de contabilidade Koda. Pelo tamanho do edifício, não devia ser um escritório grande, tão-pouco uma empresa próspera. Mas, obviamente, pelo exterior não dava para saber como era na realidade. Tengo pensara em subir no elevador até ao terceiro andar. Queria ver as instalações por dentro, nem que ficasse à porta. Porém, arriscava-se a encontrar Ushikawa no meio do corredor, e isso não deixaria de ser um tanto embaraçoso.
Tengo regressou a casa de comboio e telefonou a Komatsu. Para grande espanto seu, este encontrava-se no local de trabalho e atendeu logo.
– Neste momento, estou ocupado – disse Komatsu, nitidamente a despachá-lo, num tom de voz mais agudo do que era habitual. – Desculpa, mas agora não posso falar.
– É muito importante, senhor Komatsu – referiu Tengo. – Hoje apareceu lá na escola um indivíduo estranho. Parece saber qualquer coisa acerca da minha relação com A Crisálida de Ar.
Komatsu ficou calado por instantes.
– Penso que estarei em condições de te ligar dentro de vinte minutos. Estás em casa?
Tengo respondeu que sim. Komatsu desligou o telefone. Enquanto esperava pela chamada, Tengo afiou duas facas de cozinha com uma pedra de amolar, pôs água ao lume e preparou um chá. Precisamente vinte minutos mais tarde, tocou o telefone. Não era normal, tratando-se de Komatsu.
O seu tom de voz soava muito mais descontraído. Dir-se-ia que estava a ligar-lhe de um sítio pacato. Tengo fez um resumo do que Ushikawa lhe havia dito na sala de visitas.
– Nova Associação para o Desenvolvimento das Ciências e das Artes do Japão? Nunca ouvi falar. Além de que me parece um absurdo essa história de te quererem oferecer uma bolsa no valor de três milhões de ienes. Não podia estar mais de acordo quando eles dizem que tens futuro como escritor, isso é óbvio, mas ainda não existe uma obra tua publicada, atenção. Não deixa de ser um bocado esquisito. Aqui há gato.
– Foi isso mesmo que eu pensei...
– Dá-me algum tempo. Vou investigar por minha conta essa suposta Nova Associação para o Desenvolvimento das Ciências e das Artes do Japão. Quando souber alguma coisa, aviso-te. Dizes tu que o tal Ushikawa está a par da tua relação com a Fuka-Eri...
– Assim parece.
– Nesse caso, temos um problema – afirmou Tengo. – O Professor Ebisuno levantou o pedregulho com a ajuda da alavanca, até aí, tudo bem; mas agora dá a sensação de que saiu a rastejar de debaixo da rocha uma espécie de monstro.
Komatsu suspirou para cima do auscultador.
– Também eu ando bastante à nora. A imprensa semanal começa a dar sinais de agitação. Os canais de televisão já se manifestaram. Hoje de manhã, os polícias apareceram na editora e interrogaram-me acerca da situação. Sabem que existe uma relação entre a Fuka-Eri e a Vanguarda, incluindo a história de os pais andarem desaparecidos, sem paradeiro certo, como não podia deixar de ser. Não tarda muito, os meios de comunicação social vão explorar também esse ângulo mais sensacionalista.
– E o Professor Ebisuno, no meio de tudo isto...?
– Há muito tempo que não falo com o professor. Não consigo ligar-lhe, nem tenho recebido chamadas da parte dele. Se calhar, aconteceu-lhe qualquer coisa de grave. Ou então anda a tramar alguma...
– A propósito, senhor Komatsu, mudando de assunto: por acaso disse a alguém que eu andava a escrever um romance?
– Não, não disse a ninguém – respondeu Komatsu de imediato. – Por que carga-d’água iria falar no assunto a terceiros?
– Tudo bem, estava só a perguntar.
Komatsu ficou um minuto em silêncio.
– Tengo, não sei se a altura será a ideal para te dizer isto, mas pode muito bem acontecer que estejamos a entrar em terrenos perigosos.
– Isso agora pouco ou nada importa, o que interessa é que não podemos voltar atrás.
– Se não podemos inverter a marcha, não temos outro remédio senão continuar em frente. Mesmo que tenhas razão e que esse monstro de que falaste tenha saído de debaixo das rochas.
– Mais vale apertar o cinto de segurança – alvitrou Tengo.
– Foste tu que o disseste – corroborou Komatsu, e desligou o telefone.
Tinha sido um dia longo. Tengo sentou-se à mesa da cozinha, a beber o seu chá frio e a pensar em Fuka-Eri. O que faria ela durante todo o dia, sozinha, encerrada no seu esconderijo distante? Mas, naturalmente, ninguém podia saber o que fazia Fuka-Eri.
Na mensagem enviada em forma de cassete, ela tinha dito que a sabedoria e a força do Povo Pequeno poderiam causar danos, tanto ao Professor como ao próprio Tengo. Na floresta é melhor ter cuidado. Tengo olhou involuntariamente à sua volta. Sim, o coração da floresta era o mundo deles.
1 Uma espécie de macarrão muito fino e de cozedura rápida, tipo cabelos de anjo, feito à base de farinha de trigo, que normalmente se come frio. (N. das T.)
2 Uma figura que por certo muitos leitores poderão reconhecer das páginas de Crónica do Pássaro de Corda. Já nesse romance ele tentava aliciar a personagem de Toru Okada com argumentos do mesmo género. Murakami recria aqui um perfeito (leia-se, atento e bem-educado como poucos) manipulador ao serviço das forças do mal. (N. das T.)
3
AOMAME
Não podemos decidir como nascer,
mas podemos escolher como queremos morrer
Uma noite, já quase no fim do mês de julho, as espessas nuvens que tinham coberto o céu dissiparam-se por fim para deixar ver duas luas. Aomame contemplava a cena da varanda do seu apartamento. Sentia vontade de telefonar a alguém e de lhe dizer: «Podes fazer-me um favor? Vai à janela e olha para cima. Agora, diz-me: quantas luas vês no céu? Eu vejo claramente duas. E tu?»
Acontecia que Aomame não tinha a quem ligar para dizer aquilo mesmo. Poderia ligar a Ayumi, mas Aomame preferia não aprofundar a relação com ela. Afinal, Ayumi era uma mulher-polícia. Havia uma forte probabilidade de Aomame se ver obrigada a matar outro homem, dentro em pouco, após o que teria de mudar de rosto, mudar de nome, ir viver para outro lugar e desaparecer do mapa. Como seria de prever, não poderia tornar a ver Ayumi. Até mesmo entrar em contacto com ela estava fora de questão. Não deixava de constituir um duro golpe, ter de cortar o elo que a ligava a uma pessoa de quem se tornara próxima.
Aomame voltou para dentro, fechou a porta envidraçada da varanda e ligou o ar condicionado. A seguir, correu os cortinados, de modo a formar uma barreira entre ela e as luas. As duas luas no céu perturbavam-na. Era como se transtornassem subtilmente o equilíbrio gravitacional da Terra, indo ao ponto de exercerem um efeito qualquer sobre o seu próprio corpo. Ainda faltavam alguns dias para lhe aparecer a menstruação, mas sentia-se fraca e dominada por uma estranha languidez. A pele estava ressequida e o pulso batia a um ritmo pouco natural. Disse a si mesma que o melhor seria não pensar mais na história – mesmo sabendo que era uma coisa em que tinha obrigação de pensar.
A fim de combater a moleza, pôs-se a fazer alongamentos em cima do tapete. Concentrou-se naqueles músculos que pouco ou nada utilizava na sua vida quotidiana e sujeitou-os a um tratamento severo e sistemático. Os músculos queixaram-se em silêncio, um por um, à medida que o suor que caía do rosto de Aomame ia pingando no chão. Tinha sido ela a criar aquele programa de stretching, que depois procurara renovar todos os dias, apostada em torná-lo cada vez mais radical e eficaz. Era, acima de tudo, um programa de treino feito exclusivamente para ela; não o punha em prática nas aulas que dava no ginásio, até porque uma pessoa normal jamais estaria em condições de aguentar tamanha dor. Mesmo os seus companheiros de ginásio, sendo instrutores, gritavam e pediam tréguas.
Enquanto fazia os seus exercícios, pôs a tocar a Sinfonietta de Janácek, dirigida por George Szell. A gravação durava cerca de vinte e cinco minutos e deu-lhe tempo suficiente para torturar com bastante eficácia todos os músculos do seu corpo. Não era demasiado curta nem demasiado longa. Demorava o tempo certo. Quando a música chegava ao fim e o braço do gira-discos regressava automaticamente à sua posição de descanso, Aomame sentia o corpo e a cabeça exauridos até à última gota, como um pano torcido.
Aomame sabia a Sinfonietta de Janá?ccek de cor e salteado, da primeira à última nota. Escutar aquela música enquanto esticava as articulações do corpo até ao limite transmitia-lhe uma calma misteriosa. Nesses momentos, ela torturava e sentia-se ao mesmo tempo vítima de tortura. Forçava, ao mesmo tempo que era forçada. E essa sensação de autossuficiência interior era o que precisava e o que a apaziguava. A Sinfonietta de Janá?ccek convertera-se na banda sonora ideal para o seu exercício.
* * *
Pouco faltava para as dez da noite quando tocou o telefone. Ao levantar o auscultador, Aomame ouviu a voz de Tamaru.
– Como é que está a tua agenda para amanhã?
– Saio do trabalho às seis e meia.
– Podes passar por cá logo a seguir?
– Claro que posso – respondeu ela.
– Perfeito – disse Tamaru. Aomame conseguia ouvir o ruído produzido pela esferográfica dele a arranhar na agenda.
– É verdade, já trataram de comprar um novo cão? – quis saber Aomame.
– Um cão? Ah, sim... Decidimo-nos por outra cadela pastora alemã. Ainda não a conheço bem, mas sei que recebeu o treino básico e tudo indica que obedece à voz de comando. Chegou há cerca de dez dias e, de uma forma geral, aparenta ser dócil. As mulheres também parecem sentir-se mais seguras com a cadela por perto.
– Fico satisfeita com a notícia.
– Esta contenta-se com a ração normal para cães. Poupa trabalho.
– Normalmente, os pastores alemães não comem espinafres.
– Estamos a falar da Bun, que era uma cadela diferente das outras, sem sombra de dúvida. Havia alturas, dependendo da estação do ano, em que os espinafres não eram nada baratos... – queixou-se Tamaru com uma vaga nostalgia. A seguir, fez uma curta pausa e mudou de assunto: – A Lua hoje está muito bonita.
Aomame enrugou um pouco a testa, tendo o auscultador por testemunha.
– Porque é que me falas de repente na Lua?
– Também posso referir-me às coisas belas que existem na natureza, ou será que é proibido falar na Lua?
– Claro que podes – retorquiu Aomame.
Acontece que não és propriamente o género de pessoa que, sem haver uma razão para isso, traz à baila assuntos poéticos, e muito menos ao telefone.
Fez-se silêncio do outro lado. Por fim, Tamaru disse:
– Foste tu quem me falou nisso, da última vez em que estivemos ao telefone, lembras-te? Desde essa altura, a Lua nunca mais me saiu da cabeça, sobretudo depois de há bocado ter olhado para o céu, sem uma única nuvem, e de ter visto como a Lua estava impressionante.
A Aomame pouco faltou para perguntar quantas luas havia. Porém, abandonou a ideia. Era demasiado perigoso. No outro dia, Tamaru falara-lhe acerca do seu passado: sobre o facto de ter sido criado como órfão, não conhecendo sequer o rosto dos pais e pouco mais sabendo para além da nacionalidade deles. Os dois nunca haviam tido uma conversa tão íntima; Tamaru não era um muito dado a falar sobre a sua pessoa. Aomame caíra-lhe no goto e, de certa maneira, podia dizer-se que confiava nela. Contudo, era um profissional e um homem de disciplina, treinado para cumprir o seu objetivo seguindo o caminho mais curto. Mais valia não lhe puxar demasiado pela língua.
– Creio que posso estar aí amanhã, quando forem sete, depois de acabar o trabalho – anunciou Aomame.
– Muito bem – disse Tamaru. – Nesse caso, deverás ter fome. Amanhã é o dia de folga do cozinheiro, o que significa que não terei condições para te oferecer um jantar decente, mas, pelo menos, posso sempre preparar-te uma sanduíche, se achares bem.
– Obrigada – disse Aomame.
– Vamos precisar da tua carta de condução, do passaporte e do teu cartão de beneficiária da Segurança Social. Vê se consegues trazer-mos amanhã. Além disso, gostaria de ficar com um duplicado das chaves da tua casa. Achas que é possível?
– Não há problema.
– Ah, só mais uma coisa. Em relação ao assunto do outro dia, queria muito ter uma conversa a sós contigo. Por isso, quando acabares de conversar com a senhora, reserva algum tempo para mim, pode ser?
– Que assunto?
Tamaru ficou calado. O silêncio dele tornou-se pesado, palpável como um saco de areia.
– Precisavas de uma coisa de mim, não te lembras?
– Claro que me lembro – apressou-se Aomame a responder. Ainda estava com a cabeça na lua, melhor dizendo, a pensar nas duas luas.
– Até amanhã às sete – despediu-se Tamaru, e desligou o telefone.
No dia seguinte, o número de luas tinha mudado. Uma vez terminado o dia de trabalho, ela tomou um duche rápido e, ao abandonar as instalações do ginásio, foi confrontada com as duas luas em tom pálido, alinhadas a oeste, onde o céu ainda mostrava restos de claridade. Aomame encontrava-se de pé, apoiada à balaustrada da ponte pedonal que passava por cima da Avenida Gaien Nishi-Dori, e deixou-se ficar a contemplar as duas luas durante algum tempo. Tirando ela, não havia mais ninguém a olhar de propósito para o céu. Quando muito, os transeuntes limitavam-se a olhar com estranheza para a figura de Aomame, que, ali parada, não tirava os olhos das luas. As pessoas mostravam-se profundamente desinteressadas no que o céu ou a Lua tinham para lhes oferecer, enquanto se encaminhavam, apressadas, para a entrada da estação do metro. À medida que observava as luas, Aomame começou a sentir a mesma lassidão física da véspera. Não posso continuar a olhar para as luas, disse para consigo mesma. Tudo isto está a influenciar-me negativamente. No entanto, por mais que se esforçasse por não olhar para elas, era impossível não sentir o olhar das luas sobre a sua pele. Mesmo que eu não as veja, elas estão a observar-me. Sabem o que me preparo para fazer.
A velha senhora e Aomame tomaram um café forte e espesso em chávenas de um serviço antigo, todo decorado em relevo. A senhora deitou um pouco de leite, junto à borda da chávena, e bebeu o café sem mexer. Não punha açúcar. Aomame bebeu o seu como sempre: preto, sem nada. Tal como prometera, Tamaru serviu-lhes sanduíches preparadas por ele, devidamente cortadas e aparadas. Aomame comeu várias. Eram muito simples, feitas de pão de centeio, levavam apenas queijo e pepino, mas tinham um sabor delicado. Tamaru tinha mão para a cozinha e sabia como preparar pratos simples e ao mesmo tempo refinados. Revelava-se hábil na arte de manusear a faca de cozinha e era capaz de cortar os ingredientes com o tamanho e a grossura apropriados. Sabia ainda por que ordem realizar todas as operações necessárias. Era quanto bastava para que a comida passasse a ter outro sabor.
– Já acabaste de organizar as tuas coisas e de fazer as malas? – perguntou a anciã.
– Dei a roupa e os livros que não me faziam falta. Tudo o que é necessário à minha nova vida, enfiei dentro de uma mala: depois é só pegar nela e sair rapidamente. No apartamento deixei ficar aquelas coisas básicas que continuo a usar por estes dias: eletrodomésticos, utensílios de cozinha, a cama e os lençóis, loiça e pouco mais.
– Nós depois encarregamo-nos do que deixares ficar para trás. Também não precisas de te preocupar com o contrato de arrendamento, ou questões desse género. Só tens de pegar na mala e levar contigo o que for estritamente necessário.
– Não será melhor dizer alguma coisa no meu local de trabalho? Desaparecer assim de repente pode levantar suspeitas...
A velha senhora voltou a pousar delicadamente a chávena na mesa.
– Também não precisas de te preocupar com isso.
Aomame assentiu com a cabeça e não disse nada. Mordiscou outra sanduíche aparada e bebeu o seu café.
– A propósito, tens dinheiro no banco? – perguntou a senhora.
– Tenho cerca de seiscentos mil ienes na minha conta à ordem. E dois milhões de ienes investidos num depósito a prazo.
A anciã fez mentalmente os cálculos.
– Podes levantar quatrocentos mil ienes da conta à ordem, desde que não seja tudo de uma vez. Agora, procura não tocar na conta a prazo; seria má ideia cancelá-la de um dia para o outro. Pode ser que estejam a controlar a tua vida privada. Precisamos de tomar todas as precauções. Eu depois encarrego-me de repor esse dinheiro. Tens outros bens?
– Há aquele dinheiro do pagamento que me fez, e que se encontra depositado no cofre-forte de um banco.
– Levanta esse dinheiro, mas não o deixes ficar no apartamento. Vê se te lembras de algum lugar onde possas guardá-lo.
– Assim farei.
– Por enquanto, é tudo o que preciso que faças. Tenta não dar nas vistas e comporta-te como de costume. Prossegue com o teu estilo de vida e não faças nada que possa chamar a atenção. Se for possível, evita falar de assuntos importantes ao telefone.
Ao dizer aquilo, a velha senhora recostou-se mais fundo no cadeirão, como se tivesse esgotado as suas reservas de energia.
– O dia já está escolhido?
– Infelizmente, ainda não sabemos ao certo – referiu a anciã. – Estamos à espera de novas ordens, no que respeita ao programa da outra parte. As condições estão definidas; no entanto, só iremos saber alguma coisa de concreto em cima da hora. Tanto pode acontecer daqui a uma semana, como daqui a um mês. O local também ainda é uma incógnita. Bem sei que para ti deve ser uma tortura, mas não temos outro remédio senão ficar à espera.
– Não me importo de esperar – disse Aomame. – Gostaria, isso sim, de ficar com uma ideia, nem que seja em linhas gerais, das tais «condições».
– Vais realizar uma sessão de estiramentos musculares com esse homem – explicou a senhora. – No fundo, o trabalho que estás habituada a fazer. Parece que ele tem um problema físico qualquer. Não se trata de nada grave, mas, pelo que consegui perceber, dá-lhe bastante que fazer. Para além da medicina convencional, já experimentou várias terapias alternativas para ver se consegue livrar-se do famigerado «problema»: do shiatsu à acupuntura, passando pelas massagens, tentou tudo e mais alguma coisa, sem grandes resultados. Esse problema físico é o único ponto fraco que possui aquele a quem chamam «Líder». E foi por essa via que lográmos penetrar nas suas defesas.
A janela que ficava por trás da velha senhora tinha as cortinas fechadas, não deixando ver as luas. Aomame, porém, conseguia sentir na pele o olhar frio que lançavam. Um silêncio conspirador parecia ter-se introduzido sub-repticiamente no interior da sala.
– Temos uma pessoa infiltrada na organização. Por intermédio dela, consegui fazer passar a informação de que tu eras uma especialista fora de série na área do stretching. Não foi difícil, até porque é verdade. O homem manifestou grande interesse. Ao princípio, queriam que fosses ter com ele ao local onde funciona a sede, em Yamanashi, mas fiz questão de deixar bem claro que não podias afastar-te de Tóquio, por motivos de trabalho. Em todo o caso, o indivíduo em questão vem a Tóquio pelo menos uma vez por mês, por causa dos compromissos que tem, e fica instalado num hotel central, na baixa da cidade, procurando passar o mais despercebido possível. Será aí, no quarto do hotel, que irás fazer a sessão de estiramentos. Assim que te apanhares lá dentro, terás de proceder como sempre.
Aomame pôs-se a imaginar a cena. Num quarto de hotel. Um homem recostado sobre uma esteira de ioga, e ela, Aomame, a alongar-lhe os músculos. Não consegue ver o rosto dele. A nuca do homem, estendido de borco, apresenta-se nua e desprotegida diante dos seus olhos. Aomame estende a mão e tira do saco o picador de gelo.
– Teremos oportunidade de ficar sozinhos no quarto, não é verdade? – perguntou Aomame.
A velha senhora fez sinal que sim com a cabeça.
– O Líder não quer que as pessoas da organização fiquem a par do seu problema físico, mantendo essa questão em segredo, de modo que não estará mais ninguém presente. Ficarão os dois sozinhos.
– E eles sabem como me chamo e onde trabalho?
– São pessoas muito prudentes. Por esta altura, já devem ter investigado a fundo o teu historial. Não prevejo qualquer complicação nessa matéria. Ontem, finalmente, comunicaram-nos que deverias apresentar-te no hotel onde o Líder ficará alojado. Quando chegar o momento, informam-nos do local e da hora.
– Não irão suspeitar da relação que mantemos, pelo facto de eu passar a vida a entrar e a sair por estes portões?
– Estou inscrita no ginásio onde trabalhas, além de que tu vens cá a casa na qualidade de minha personal trainer. Não há motivo para alguém pensar que entre nós existe outro vínculo.
Aomame assentiu com a cabeça.
– Sempre que o Líder da organização abandona as instalações e se desloca, faz-se acompanhar de dois seguidores da seita, ambos cinturões negros em karaté. Ainda não conseguimos saber se andam armados, mas tudo indica que são bons naquilo que fazem. Treinam no duro todos os dias. Apesar disso, e na opinião do Tamaru, não passam de amadores.
– Ou seja, ao contrário do Tamaru.
– Sim, o Tamaru é de outra cepa. Estamos a falar de uma pessoa que costumava pertencer aos Comandos, nas Forças de Autodefesa. Está programado para agir de imediato, sem hesitações, quando é preciso conseguir o objetivo proposto. Seja qual for o adversário que tem pela frente, nunca vacila. Os amadores hesitam, sobretudo se o adversário for uma mulher ainda jovem.
A anciã reclinou a cabeça para trás, apoiando-se no encosto do sofá, e deixou escapar um profundo suspiro. Logo a seguir, voltou à posição inicial e olhou de frente para Aomame.
– O mais provável é esses tais dois guarda-costas ficarem à espera no quarto ao lado da suíte, enquanto tu estiveres a ocupar-te do Líder. Logo, vais ficar sozinha com ele durante cerca de uma hora. Por enquanto, é tudo o que conseguimos apurar. Como as coisas irão correr, chegada a altura?... Ninguém sabe. A situação apresenta-se periclitante. O Líder costuma revelar os seus planos apenas no último minuto.
– Que idade tem ele?
– Deve ter os seus cinquenta e cinco anos. Segundo parece, tem um físico imponente. Para mal dos nossos pecados, não sabemos muito mais acerca dele.
* * *
Tamaru esperava por ela à porta. Aomame entregou-lhe uma cópia da chave, a carta de condução, o passaporte e o cartão da Segurança Social. Tamaru retirou-se para dentro de casa e tirou fotocópias daqueles documentos. Depois de verificar que tinha na sua posse todas as cópias, devolveu os originais a Aomame. Em seguida, conduziu-a até ao seu escritório, que ficava mesmo junto à entrada. Não havia ali um único elemento decorativo digno desse nome: era uma divisão pequena e quadrada. Uma janelinha minúscula dava para o jardim. O aparelho de ar condicionado, encastrado na parede, produzia um ligeiro zumbido. Tamaru convidou Aomame a sentar-se numa pequena cadeira de madeira, ao mesmo tempo que ele se sentava numa outra cadeira, à secretária. Viam-se quatro ecrãs alinhados na parede. O ângulo das câmaras podia ser mudado, quando necessário. Os vídeos, em igual número, gravavam sem parar as imagens projetadas. Num dos ecrãs, o primeiro à direita, o enquadramento mostrava imagens da porta da casa-abrigo, onde viviam as mulheres. A nova cadela encontrava-se visível, deitada a dormir. Era um nadinha mais pequena do que a anterior.
– A morte da cadela não ficou registada nas imagens – observou Tamaru, antecipando-se à pergunta de Aomame. – Nesse momento, não estava presa. Era impossível soltar-se sozinha, por isso alguém o deve ter feito.
– Uma pessoa que estivesse habituada a aproximar-se dela, visto que não ladrou...
– É o mais provável.
– Que estranho!
Tamaru assentiu mas não disse nada. Fartara-se de matutar no assunto, até esgotar todas as hipóteses. Chegado àquele ponto, já não havia mais explicações a dar.
Inclinando-se, Tamaru abriu a gaveta do armário que tinha ao lado, enfiou a mão até tocar no fundo e tirou uma bolsa de plástico preta. Dentro da bolsa estava uma toalha azul muito gasta, quase sem cor; ao desdobrar a toalha, apareceu um objeto metálico – uma pistola automática, de um preto reluzente. Em silêncio, Tamaru depositou a arma nas mãos de Aomame. A rapariga pegou nela sem dizer uma só palavra e sopesou-a. Era muito mais leve do que parecia. Aquela coisa tão levezinha podia causar a morte de uma pessoa.
– Acabas de cometer dois erros graves. Queres que te diga quais são? – perguntou Tamaru.
Aomame esforçou-se por rebobinar o filme, mas não conseguiu perceber o que tinha feito mal. Limitara-se a pegar na arma que lhe fora entregue.
– Não sei – confessou ela.
Tamaru explicou-lhe:
– Primeiro, quando pegaste na arma, não verificaste se estava carregada, e, no caso de estar carregada, não te certificaste de que tinha a patilha na posição de segurança. Segundo, no momento em que a recebeste das minhas mãos, apontaste-a para mim, por breves segundos. Aí tens dois erros que deves evitar. Outra coisa: se não tiveres intenção de disparar, aconselho-te a manter o dedo afastado do gatilho.
– Entendido. A partir de agora, terei cuidado.
– A não ser que se trate de uma situação de emergência, sempre que transportares ou manipulares uma arma, é fundamental que ela esteja descarregada. E, da mesma forma, sempre que vires uma, deves comportar-te como se estivesse carregada. Pelo menos até teres a certeza de que não está, claro. As armas de fogo são fabricadas com o propósito de matar. Por mais cuidado que tenhas, nunca é demasiado. Pode haver quem faça troça de mim e me acuse de ser demasiado cauteloso, mas passamos a vida a ter conhecimento de acidentes estúpidos, e olha que os que morrem ou ficam seriamente feridos na sequência de uma brincadeira destas, provocada por uma arma, são muitas vezes os que se riem das pessoas precavidas.
Tamaru sacou uma bolsinha de plástico do bolso do casaco. Continha sete munições novas. Colocou-as em cima da mesa.
– Como podes ver, agora encontra-se descarregada. Tem o carregador no sítio, mas está vazio. Nem há qualquer munição na câmara.
Aomame acenou afirmativamente com a cabeça.
– É um presente que te dou, a título pessoal. Com uma condição. No caso de não a usares, peço-te que ma devolvas.
– Naturalmente – respondeu Aomame num tom seco. – Deve ter-te custado uns bons ienes, não?
– Não te preocupes com isso – retorquiu Tamaru. – Há outras coisas que merecem a tua atenção. Passemos a outros assuntos. Já alguma vez disparaste uma arma?
Aomame negou com a cabeça e disse:
– Nunca.
– Em princípio, os revólveres são mais fáceis de manejar do que as automáticas. Sobretudo quando se trata de uma principiante. O mecanismo é mais simples, torna-se mais fácil aprender a manipulá-los e existem menos possibilidades de se cometer erros. No entanto, verdade seja dita que um bom revólver, daqueles sofisticados, não é coisa fácil de transportar, por causa do seu volume. Como tal, pensei que o melhor seria uma semiautomática. Uma Heckler & Koch HK4, de fabrico alemão; sem munições, pesa quatrocentos e oitenta gramas. Trata-se de uma arma pequena e ligeira, mas convém não esquecer que as munições de nove milímetros são potentes que se fartam, para além de terem um coice fraco. Não se espera que consigam uma precisão por aí além nos disparos de longa distância, mas ajusta-se ao que tu queres. A Heckler & Koch é uma empresa alemã que produz armas de fogo e foi fundada no pós-guerra. Contudo, a HK4 foi fabricada com base num modelo muito afamado, a Mauser HSc, utilizado antes da guerra. Começou a ser fabricado no ano de 1968 e ainda hoje continua a ser bastante utilizado. Daí que seja uma arma fiável. Esta, em particular, não é nova, mas vê-se que pertencia a quem sabia do seu ofício e está bem cuidada. As armas de fogo são como os automóveis: pode-se confiar mais num carro que esteja usado mas em bom estado do que num totalmente novo.
Tamaru tirou a pistola das mãos de Aomame e ensinou-lhe o seu funcionamento – o que fazer para pôr e tirar a arma de segurança, sacar o carregador e tornar a colocá-lo.
– Quando se tira o carregador, é preciso voltar a pôr a patilha em segurança. Uma vez tirado o carregador, puxas a corrediça para trás, e nessa altura sairá a munição que está na câmara. Visto que agora não estava carregada, não saiu nada. Feito isso, com a corrediça aberta, primes o gatilho... assim. Nesse instante, a corrediça vai à frente e o cão fica armado. Voltas a premir o gatilho e o cão desarma, altura em que metes outro carregador.
Tamaru executou aquela série de movimentos rápidos com uma agilidade notável. Em seguida, repetiu a mesma sequência, devagar, tendo o cuidado de exemplificar cada um dos gestos. Aomame observava a cena com a máxima atenção.
– Experimenta tu.
Aomame tirou o carregador com precaução, puxou a corrediça para trás, esvaziou a câmara, baixou o cão e voltou a pôr o carregador.
– Muito bem – disse Tamaru. Depois pegou de novo na arma, tirou o carregador e introduziu as sete munições cuidadosamente; assim que carregou a pistola, produziu-se um forte clique. A seguir, baixou a patilha de segurança que havia no lado esquerdo para ela ficar travada. – Experimenta repetir o que fizeste há pouco. Desta vez, a arma está carregada de munições verdadeiras. No interior da câmara também há uma munição. Apesar de a patilha estar na posição de segurança, não deves apontar o cano da arma a ninguém – alertou Tamaru.
Aomame pegou na pistola carregada e comprovou a diferença de peso. Não estava tão leve como dantes. Transmitia uma inequívoca sensação de morte. Era um instrumento de precisão, concebido para matar. Sentiu o suor começar a escorrer pelas axilas.
Aomame tornou a verificar que a patilha estava na posição de segurança, sacou o carregador e depositou-o em cima da mesa. Ao puxar a corrediça para trás, expulsou a munição que havia na câmara. A munição caiu no soalho de madeira com um ruído seco. Ela apertou o gatilho, a fim de fechar a corrediça, e depois apertou-o uma vez mais para voltar a soltar o cão. Com a mão a tremer, só então apanhou do chão a munição de nove milímetros que caíra aos seus pés. Tinha sede e ardia-lhe a garganta ao respirar.
– Não está mal, para uma primeira vez – observou Tamaru, enquanto metia de novo a munição de nove milímetros no carregador. – Mas ainda precisas de praticar bastante. Tremem-te as mãos. Repete todos os dias o movimento de pôr e tirar o carregador, até que as tuas mãos se acostumem ao toque da pistola. Tens de ser capaz de o fazer bem, depressa e automaticamente, tal como me viste fazer agora mesmo. Para o caso de precisares de executar a operação às escuras. Calculo que no teu caso não seja necessário trocar de carregador. No entanto, esse gesto é fundamental para qualquer pessoa que pretenda utilizar uma arma. Deves saber executá-lo de memória.
– Não preciso de praticar o disparo?
– Bom, que eu saiba, não vais disparar contra ninguém. A ideia é dares um tiro em ti própria, certo?
Aomame fez que sim com a cabeça.
– Nesse caso, não precisas de treinar. Basta que aprendas a carregar as munições, a soltar a patilha de segurança e a sentir o peso e a dureza do gatilho. Além do mais, onde é que fazias tenção de praticar tiro?
Aomame abanou a cabeça. Não fazia a mínima ideia.
– Mais uma coisa. Como é que pensas fazê-lo? Toma, faz de conta que vais disparar sobre ti e mostra-me.
Tamaru introduziu o carregador na pistola e, depois de se ter certificado de que a patilha de segurança estava no sítio, passou a arma para as mãos de Aomame.
– A patilha de segurança está posta – disse Tamaru.
Aomame apertou o cano de encontro à têmpora. Sentiu o toque do aço frio. Ao vê-la, Tamaru abanou lentamente a cabeça, por mais de uma vez.
– Vou dar-te um conselho. É melhor não apontares à têmpora. Torna-se muito mais difícil para a munição chegar ao cérebro do que tu possas pensar. Além de que, nessas situações, as mãos normalmente tremem. Devido a esse tremor, a pistola desvia-se da sua trajetória no momento do recuo. São muitos os casos em que a munição se limita a roçar o crânio e a pessoa não morre. Não gostarias que isso acontecesse contigo, pois não?
Aomame abanou a cabeça em silêncio.
– Quando o general Tojo Hideki3 foi capturado pelo Exército dos Estados Unidos, no final da guerra, tentou matar-se com uma munição em cheio no coração, apertando o gatilho de encontro ao peito, mas o projétil desviou-se, foi parar ao estômago, e ele sobreviveu. Aí tens o exemplo de um militar de carreira, alguém que ocupava um lugar no topo da hierarquia militar, e que não foi capaz de se suicidar como deve ser com uma arma. Levado de imediato para o hospital, Tojo recebeu todos os cuidados por parte da equipa médica norte-americana, voltou a ser julgado e condenado a morrer na forca. Uma morte horrível. O momento da morte é importante para o ser humano. Não podemos decidir como nascer, mas podemos escolher como queremos morrer.
Aomame mordeu o lábio.
– A maneira mais segura consiste em meter o cano dentro da boca e fazer estoirar os miolos de baixo para cima. Assim.
Tamaru tirou-lhe a pistola da mão e exemplificou. Apesar de saber que a patilha de segurança estava colocada no sítio, aquela cena não deixou de provocar uma certa tensão em Aomame. Respirou com dificuldade, como se tivesse qualquer coisa a obstruir-lhe a garganta.
– Contudo, não se pode dizer que o método seja cem por cento seguro. Conheço um homem que tentou suicidar-se deste modo, sem o conseguir, e que ficou num estado lamentável. Estávamos juntos nas Forças de Autodefesa. Meteu o cano da espingarda na boca, atou uma colher ao gatilho e apertou com os polegares dos pés. Talvez o cano se tenha desviado... Não se conseguiu matar e tornou-se um ser vegetal até ao fim. Viveu assim durante dez anos. Tirar a própria vida não é tão fácil como parece. Não é como nos filmes, em que os suicídios acontecem como se fosse a coisa mais simples do mundo, e toda a gente morre logo ali, ato contínuo, sem sentir dor. Na realidade, porém, as coisas não são bem assim. As pessoas não conseguem os seus intentos e ficam amarradas a uma cama, incapazes de controlar as necessidades fisiológicas, durante uma dezena de anos.
Aomame limitou-se a assentir, sem dizer nada.
Tamaru tirou as munições do carregador e da câmara e guardou-as dentro da pequena bolsa de plástico. A seguir, estendeu a pistola e as munições em separado a Aomame.
– Não está carregada.
Aomame fez um sinal afirmativo com a cabeça e aceitou as duas coisas.
Tamaru prosseguiu:
– Acredita que é mais sensato optar por viver. Já para não dizer que é mais realista, também. Este é outro conselho que te dou.
– Entendido – disse Aomame secamente. Depois, tratou de enrolar num lenço de pescoço a Heckler & Koch HK4, que por sinal parecia uma ferramenta tosca, e atirou-a para o fundo do saco desportivo. Quanto à bolsinha com as munições, guardou-a num compartimento de lado. O volume não contribuiu para deformar o saco, apesar de este ter ficado meio quilo mais pesado. Vendo bem, tratava-se de uma arma pequena e compacta.
– Para dizer a verdade, não é uma arma para principiantes; não deveria ser permitido a uma amadora como tu andar com armas destas – atirou Tamaru. – Pela minha experiência, sei que isto pode trazer problemas. Mas, tratando-se de ti, vais conseguir fazer bem as coisas. De certa maneira, somos parecidos. Nos momentos críticos, és capaz de dar prioridade às regras, em detrimento do teu verdadeiro «eu».
– Talvez isso aconteça porque o meu verdadeiro «eu» não existe.
Tamaru não deu seguimento ao tema.
– Estiveste nas Forças de Autodefesa? – quis saber Aomame.
– Sim, na unidade mais «dura». Vimo-nos obrigados a comer ratos, cobras e lagartos. Nem eram intragáveis, apenas não sabiam nada bem...
– E que fizeste depois disso?
– Muitas coisas. Trabalhei como segurança; melhor dizendo, como capanga, já que segurança é capaz de ser uma palavra demasiado fina para definir as minhas funções. Como o trabalho em grupo não é o meu forte, prefiro operar por conta própria. Por pouco tempo, é certo, mas confesso que também andei metido no mundo da máfia, onde presenciei toda a espécie de coisas, daquelas com que as pessoas normais nunca se deparam nos dias da sua vida. Apesar de tudo, nunca mergulhei no lodo. Tive sempre o cuidado de não dar passos em falso nem passar dos limites. Sou prudente, por natureza, e nunca gostei dos yakuzas. De modo que, como te cheguei a dizer uma vez, o meu historial está limpo, não têm nada a apontar-me. E foi assim que cheguei até aqui. – Ao dizer isto, Tamaru apontou para o chão debaixo dos seus pés. – Muito embora não tenha procurado alcançar a estabilidade a todo o custo, o certo é que agora levo esta vida pacífica. Como sabes, não é fácil uma pessoa encontrar um trabalho de que goste. Pretendo manter as coisas como elas estão.
– Acredito – retorquiu Aomame. – De certeza que não queres que te pague?
Tamaru negou com a cabeça.
– Não preciso de dinheiro. Este mundo funciona à base de estratagemas e de favores, não é propriamente o dinheiro que faz girar o mundo. Pela minha parte, como não gosto de dever nada a ninguém, prefiro fazer o maior número possível de favores.
– Obrigada – agradeceu Aomame.
– No caso de a polícia te interrogar para saber onde é que arranjaste a arma, não quero que fales no meu nome. Assim como,
se eles vierem ter comigo, podes ter a certeza de que negarei tudo. Da minha boca nunca ficarão a saber nada, nem que me deem uma carga de pancada. Agora, se eles conseguirem envolver a senhora em toda esta história, perderei o meu trabalho e a minha honra será posta em causa.
– Escusado será dizer que não darei o teu nome.
Tamaru tirou um papelinho branco dobrado do bolso e entregou-o a Aomame. Na folha de papel estava escrito o nome de um homem.
– No dia 4 de julho, numa cafetaria chamada Renoir, recebeste a pistola e as sete munições deste homem, e pagaste-lhe por isso a quantia de quinhentos mil ienes em dinheiro vivo. Andavas à procura de uma arma, houve um tipo qualquer que soube da história e que se pôs em contacto contigo. Se a polícia vier a interrogar esse homem sobre o assunto, ele confirmará os factos, sem problemas, o que significa que está pronto a ir parar à prisão durante vários anos. Não tens de te preocupar com outros pormenores. Desde que consiga estabelecer a procedência da arma, a polícia dar-se-á por satisfeita. Quanto a ti, é possível que também passes algum tempo atrás das grades, acusada de posse ilegal de arma.
Aomame decorou o nome escrito na folha de papel e devolveu-o a Tamaru, que o rasgou aos pedacinhos antes de deitar tudo no cesto do lixo.
A seguir, ele voltou à carga:
– Como te disse anteriormente, sou uma pessoa prudente por natureza. Contam-se pelos dedos as ocasiões em que confio nos outros e, quando isso acontece, mesmo assim nunca chego a confiar cem por cento. O meu maior desejo é que esta pistola regresse às minhas mãos sem ter sido usada. Isso quererá dizer que não teremos problemas. Ninguém morrerá, ninguém ficará ferido e ninguém irá preso.
Aomame concordou com a cabeça.
– Estás a convidar-me a quebrar a tal regra de Tchékhov?
– Isso mesmo. Tchékhov era um grande escritor, mas, naturalmente, o seu ponto de vista não é o único válido. Nem todas as armas que aparecem numa história têm de ser disparadas – afirmou Tamaru. A seguir, franziu o sobrolho de repente, como se tivesse acabado de se lembrar de uma coisa importante. – Ah, é verdade, já me esquecia. Tenho de te dar um pager.
Tirou um pequeno aparelho da gaveta e colocou-o em cima da secretária. Possuía uma espécie de pinça metálica que lhe permitia ficar ajustado à roupa ou ao cinto. Tamaru pegou no telefone e marcou um número abreviado de três dígitos. Ao terceiro toque, o pager começou a emitir uma série de sons eletrónicos intermitentes. Depois de ter colocado o volume no máximo, Tamaru carregou num botão e o som deixou de se ouvir. Ele semicerrou os olhos para ver melhor, na tentativa de verificar se o número de telefone aparecia, e entregou o pager a Aomame.
– Procura tê-lo sempre contigo – disse Tamaru –, ou, pelo menos, não te afastes muito dele. Se tocar, quer dizer que te enviei uma mensagem. Uma mensagem importante. Não faço tenção de entrar em contacto contigo apenas para enviar saudações, nem nada que se pareça. Se o fizer, quero que telefones de imediato para o número que aparece aí indicado. Sempre de uma cabina pública, atenção. E outra coisa: se tiveres bagagem, o melhor é guardá-la num daqueles cacifos automáticos que existem na estação de Shinjuku.
– Na estação de Shinjuku – repetiu Aomame.
– Imagino que não seja necessário dizer isto, mas quanto menos coisas levares contigo, melhor.
– Certo.
De regresso ao seu apartamento, Aomame fechou as cortinas todas e tirou do saco a HK4 e as munições. Depois, sentou-se à mesa da cozinha, repetindo o movimento que consistia em tirar e meter o carregador. Quanto mais praticava, maior era a rapidez de execução. Os movimentos acabaram por adquirir um bom ritmo e as mãos deixaram de lhe tremer. A seguir, enrolou a pistola numa T-shirt usada e escondeu-a numa caixa de sapatos. Por fim, guardou tudo no fundo de um armário. A bolsinha com as munições, essa meteu-a dentro do bolso interior de uma gabardina que estava pendurada num cabide. Sentiu de repente uma sede terrível. Foi ao frigorífico buscar um jarro de chá frio de cevada torrada e bebeu três copos de uma assentada. Tinha os músculos dos ombros rígidos devido à tensão, e por baixo das axilas desprendia-se um odor diferente do habitual. Pelo facto de possuir uma arma e ter consciência disso, a sua visão do mundo mudara um pouco. A paisagem que a rodeava adquirira um matiz estranho, que lhe era desconhecido.
Despiu a roupa que trazia no corpo e tomou um duche para se libertar do cheiro a suor.
Nem todas as pistolas têm de ser disparadas, repetia para si mesma, debaixo do chuveiro. Uma pistola não é mais do que um instrumento. E eu não vivo no mundo da ficção. Este é o mundo real, cheio de abismos, de contradições e anticlímax.
Passaram-se entretanto duas semanas sem que houvesse novidades. Como de costume, Aomame ia trabalhar todos os dias para o ginásio e dava as suas aulas de artes marciais e de estiramentos. Não podia mudar o ritmo da sua vida quotidiana. Seguia rigorosamente as instruções dadas pela velha senhora. Ao regressar a casa, assim que acabava de jantar sozinha, corria por completo as cortinas e prosseguia o treino com a HK4, sentada à mesa da cozinha. Aquela sensação de peso, aquela rigidez, a sua força bruta, assim como o odor do óleo lubrificante, foram-se entranhando nela e passaram aos poucos a fazer parte do seu corpo.
Volta e meia, praticava a manobra, depois de ter vendado os olhos com um lenço. Mesmo sem ver rigorosamente nada, conseguia pôr o carregador enquanto o diabo esfrega um olho, tirar a patilha de segurança e puxar a corrediça. O som breve e rítmico provocado por cada uma das operações soava de forma agradável aos seus ouvidos. No escuro, a diferença entre o som produzido pela arma na sua mão e aquele ruído captado pelos seus ouvidos tornava-se cada vez mais ténue. A fronteira entre a sua própria existência e as ações por si desenvolvidas desvanecia-se, até acabar por desaparecer de todo.
Uma vez por dia, punha-se de pé diante do espelho da casa de banho e enfiava o cano da pistola carregada na boca. Enquanto sentia aquela rigidez metálica na ponta dos dentes, imaginava como seria apertar o gatilho. Um simples gesto bastaria para acabar com a sua vida. No instante seguinte, teria desaparecido da face da Terra. Defronte do espelho, falava consigo mesma. Tenho de prestar atenção a vários pontos importantes: não tremer com a mão; aguentar o recuo da arma; não ter medo e, sobretudo, não hesitar.
Se quiser, posso fazê-lo agora mesmo. Basta colocar o dedo um centímetro mais para dentro. Fácil. Porque é que não me decido? Esteve quase a fazê-lo, mas depois mudou de ideias, tirou a pistola da boca, baixou a patilha de segurança e pousou a arma em cima do lavatório, entre a pasta de dentes e a escova do cabelo.
Não, ainda não. Primeiro tenho de fazer uma coisa.
Tal como Tamaru lhe recomendara, Aomame transportava o pager consigo para todo o lado. Quando chegava a hora de se deitar, deixava-o ficar ao lado do despertador. Estava sempre alerta, pronta para agir de imediato quando tocasse. No entanto, passou-se uma semana, e o pager em silêncio, posto em sossego.
A pistola na caixa de sapatos, as sete munições no bolso da gabardine, o pager silencioso, o picador de gelo de fabrico artesanal, com a sua ponta letal, e os seus pertences empacotados numa mala de viagem. Uma nova cara e uma nova vida que, em princípio, a esperavam. Um maço de notas, dinheiro vivo, guardado num cacifo automático da estação de Shinjuku. Foi nesse ambiente que Aomame passou os dias de verão. Era tempo de férias, e as pessoas começavam a preparar-se para fugir. Muitos estabelecimentos comerciais tinham os taipais de metal cerrados e pelas ruas não se encontrava vivalma. Também diminuíra o número de veículos em circulação e na cidade inteira reinava uma certa tranquilidade. Por vezes, ela tinha a impressão de estar a perder o norte. Será isto real?, interrogava-se. Se não era a verdadeira realidade, não fazia ideia de onde poderia encontrá-la. Não tinha outro remédio senão aceitar que aquela era a única realidade existente e fazer os possíveis por enfrentá-la com todas as suas forças.
Não tenho medo de morrer, voltou a convencer-se Aomame. O que temo é ser enganada pela realidade, ser abandonada pela realidade.
Estava tudo pronto. Mentalmente, encontrava-se preparada. Poderia abandonar o apartamento em qualquer momento, bastava que Tamaru desse sinal de vida. No entanto, a chamada telefónica nunca chegou a acontecer. O mês de agosto aproximava-se do fim. O verão não tardaria a acabar e, lá fora, as cigarras lançavam no ar o seu último canto. Parecia mentira que o mês tivesse passado a correr, quando cada dia dava a sensação de ser interminavelmente longo.
Ao regressar do trabalho no ginásio, Aomame despiu a roupa encharcada de suor, enfiou-a no cesto e vestiu antes uma camisola sem mangas e uns calções. No começo da tarde, caiu um forte aguaceiro. O céu escureceu, as bagas de chuva, grandes como seixos, embatiam com violência no pavimento, e trovejou a valer. Assim que passou o aguaceiro, as ruas ficaram alagadas. O Sol voltou a brilhar e a água evaporou-se, envolvendo a cidade inteira numa nuvem fumegante de vapor. Ao cair a tarde, as nuvens tornaram a surgir e cobriram o céu com um véu espesso. As luas não estavam à vista.
Antes de começar a fazer o jantar, sentiu necessidade de descansar um bocado. Enquanto bebia um copo de chá de cevada frio e petiscava as edamame que cozera de antemão, abriu o jornal da tarde em cima da mesa da cozinha e começou a folheá-lo, por ordem, da primeira até à última página. Não havia nenhum artigo que despertasse a sua atenção. Parecia a mesma edição vespertina de sempre. Porém, ao abrir a página dedicada aos fait-divers, saltou-lhe de imediato à vista uma fotografia de Ayumi. Aomame susteve a respiração e enrugou a testa.
Primeiro, ainda pensou que não era possível. Só podia estar a fazer confusão, devia tratar-se de alguém muito parecido com a mulher-polícia. Ayumi nunca iria aparecer no jornal, para mais num artigo com uma foto em grande plano. Porém, quanto mais olhava, mais lhe parecia a cara da sua jovem amiga, companheira das suas esporádicas e modestas orgias sexuais. Na fotografia em causa, Ayumi ostentava um ligeiro sorriso – por sinal um sorriso com o seu quê de artificial e forçado. A verdadeira Ayumi costumava ter um sorriso muito mais natural e alegre estampado na cara. Aquela foto deveria ter sido tirada de propósito para um álbum oficial. Era como se por detrás daquele aparente desconforto se escondesse uma natureza inquieta.
Aomame gostaria de passar ao lado do artigo. Olhando para o título em caixa alta que acompanhava a fotografia, era impossível não adivinhar o que acontecera. Ao mesmo tempo, estava fora de questão fechar os olhos. Tornava-se impossível escapar às malhas da realidade. Aomame soltou um suspiro profundo, dos dela, e começou a ler.
«Ayumi Nakano (26 anos), solteira. Moradora no bairro de Shinjuku, em Tóquio.»
O artigo adiantava que Ayumi morrera estrangulada com o cinto do robe, num quarto de hotel em Shibuya. Fora encontrada completamente despida e amarrada à cama com algemas. Na boca tinham-lhe metido uma peça de roupa, para evitar que gritasse. Um empregado do hotel encontrara o corpo sem vida, pouco antes do meio-dia, quando se preparava para inspecionar o quarto. Ayumi entrara acompanhada de um homem, na noite anterior, tendo o indivíduo abandonado o hotel ao amanhecer. O pagamento havia sido feito antecipadamente. Não se tratava de um caso fora do vulgar numa metrópole como Tóquio, onde se aglomeram pessoas muito diferentes; dessa amálgama resultam comportamentos febris, que se traduzem, não raras vezes, em violência. Os jornais estavam cheios de histórias parecidas. No entanto, aquela conhecia contornos pouco usuais. A vítima era uma mulher-polícia e tudo indicava que as algemas que teriam sido utilizadas nalgum jogo sexual eram as regulamentares, pertencentes ao corpo policial. Não se tratava de acessórios de pacotilha, daquelas algemas compradas nas sex-shops. Como seria de esperar, a notícia despertou grande curiosidade junto do público.
3 General do Exército japonês e político (1884-1948), desempenhou um papel ativo na escalada militar do Japão e na Segunda Guerra Mundial. No final do conflito, foi condenado à morte, depois de ter sido considerado culpado de numerosos crimes de guerra. (N. das T.)
4
TENGO
Talvez fosse melhor não desejar semelhante coisa
Onde é que ela estará agora e o que andará a fazer? Será que ainda é devota da Associação das Testemunhas?
Espero que não, pensou Tengo. Cada um era livre de acreditar, ou não acreditar, bem entendido. Não se tratava sequer de um assunto para o qual Tengo fosse tido nem achado. No entanto, e que se lembrasse, ela não parecia particularmente feliz em pequena pelo facto de pertencer àquela seita.
Nos seus dias de estudante, Tengo trabalhara a tempo parcial num armazém de uma loja de bebidas alcoólicas. Não pagavam mal, mas era um trabalho duro, que o obrigava a transportar cargas pesadas. Ao fim de um dia de trabalho, até mesmo ele, conhecido pela sua constituição robusta, sentia as articulações do corpo todas doridas. Por coincidência, trabalhavam ali dois rapazes que tinham sido educados como membros da «segunda geração» das Testemunhas. Eram uns tipos simpáticos e educados. Da mesma idade que Tengo, levavam o trabalho a sério. Nunca se queixavam e laboravam sem quebras de ritmo. Certa vez, depois do trabalho, foram os três beber uma cerveja japonesa a um bar. Amigos de infância, os dois haviam renunciado à sua fé anos antes, contaram eles. Ao abandonarem a organização religiosa, aventuraram-se juntos no mundo real. Contudo, pelo que Tengo podia observar, parecia que não se tinham adaptado lá muito bem ao novo ambiente. Nascidos e criados no meio de uma comunidade pequena e fechada, nem um nem outro tinham facilidade em compreender e aceitar as regras daquele universo mais vasto. Muitas vezes, perdiam a confiança na sua capacidade para tomar decisões e sentiam-se confusos. Ao mesmo tempo que saboreavam a sensação de liberdade por terem renunciado à sua fé, carregavam consigo a dúvida, que os levava a perguntar a si próprios até que ponto teriam feito a opção errada.
Tengo não podia deixar de sentir compaixão por eles. Se tivessem abandonado aquele mundo quando ainda eram crianças, antes que as suas personalidades estivessem claramente formadas, teriam possibilidades de se adaptarem à sociedade. Porém, ao deixarem escapar esse ensejo, viam-se obrigados a viver segundo a escala de valores imposta pela comunidade das Testemunhas. Ou então, e dependendo inteiramente de si mesmos, a alternativa consistia em estarem dispostos a fazer grandes sacrifícios, a fim de transformarem a sua mentalidade e as suas rotinas de fio a pavio. Quando Tengo conversava com eles, lembrava-se da rapariga e só esperava que ela não tivesse tido de passar pelo mesmo.
Depois de a menina ter largado por fim a mão dele, saindo a correr disparada da sala de aulas, sem olhar para trás, Tengo deixou-se ficar ali de pé durante algum tempo, incapaz de fazer um simples gesto. A verdade é que ela lhe apertara a mão esquerda com uma força considerável, e ainda sentia o toque dos seus dedos, sensação que perdurou, de resto, durante vários dias. Mesmo quando a impressão imediata começou a desvanecer-se, a profunda marca por ela deixada no seu coração permaneceu intacta.
Passado pouco tempo, teve a sua primeira ejaculação. Da ponta do pénis ereto saiu um pouco de líquido, um tudo-nada mais viscoso do que a urina. E ele tinha sentido ao mesmo tempo uma espécie de latejar e uma vaga sensação de dor. Tengo ainda não sabia que aquilo era o sinal da sua primeira ejaculação. Visto que nunca passara por uma coisa semelhante, experimentara uma certa apreensão. Podia ser que algo estranho estivesse a acontecer com o seu corpo, mas não era o tipo de assunto que pudesse discutir com o pai nem perguntar aos seus companheiros de turma. De noite, ao despertar a meio de um sonho (não se lembrava daquilo com que havia sonhado), tinha a roupa interior ligeiramente molhada. Tengo acreditava que, ao agarrar na mão dele, a rapariga tocara em qualquer coisa e fizera-a sair de dentro dele.
Depois disso, nunca mais voltou a ter contacto com ela. Aomame continuava a manter-se isolada no meio da turma, como de costume; não falava com ninguém e, antes do almoço, recitava sempre a mesma oração na sua voz clara. Quando se cruzava com Tengo, a expressão do seu rosto não traduzia a mínima alteração; era como se nada tivesse acontecido. Dir-se-ia que Tengo permanecia, aos seus olhos, invisível.
Por seu lado, Tengo não perdia a oportunidade de observar Aomame, mas sempre à socapa, para que os outros não reparassem. Olhando com atenção, era uma menina bem bonita – ou, pelo menos, os traços do seu rosto agradavam-lhe. Era alta e magra, e vestia sempre roupas de cores deslavadas que lhe ficavam demasiado grandes. Quando usava o equipamento de ginástica, notava-se que o peito ainda não começara a desenvolver-se. Mostrava-se pouco expressiva, quase não abria a boca e passava o tempo com o olhar perdido, melhor dizendo, as suas pupilas, quando se fixavam num determinado ponto, careciam de vitalidade. Tengo achava aquilo estranho, pois, naquele dia, ao olhar de frente para ele, o seu olhar revelara-se límpido e luminoso.
Depois de ela lhe ter apertado a mão, Tengo ficou a saber que aquela rapariguinha magra escondia dentro de si uma energia inquebrantável e fora do comum. Não se tratava apenas da força de mãos, revelada através do seu gesto. Era como se o seu espírito fosse dotado de um poder especial. De uma forma geral, ela procurava manter essa energia oculta, para que os outros camaradas de escola não dessem por ela. Mesmo quando era chamada durante as aulas pelo professor, a jovem não dizia mais do que o estritamente necessário (às vezes, nem isso, preferindo ficar calada), se bem que as notas obtidas nos exames não fossem más de todo. Tengo calculava que, se ela quisesse, poderia obter classificações mais elevadas, mas se calhar respondia às perguntas sem se esforçar por aí além, para não se destacar. Talvez não passasse de uma estratégia que uma menina na posição dela professara, a fim de sobreviver, reduzindo ao mínimo o risco de se magoar. Encolher-se o mais possível e fazer-se pequenina, ao ponto de se tornar transparente.
Tengo pensava em como seria fantástico se ela fosse uma rapariga cem por cento normal, com quem ele pudesse manter uma conversa perfeitamente vulgar. Desse modo, o mais provável era tornarem-se bons amigos. A amizade entre um rapaz e uma rapariga aos dez anos nunca é fácil. Na verdade, talvez seja das coisas mais difíceis do mundo. Mas, pelo menos, poderiam ter arranjado maneira de se encontrarem uma vez por outra para conversarem amigavelmente. Ora, tal ocasião nunca se proporcionou. Aomame não levava uma vida normal: era um caso isolado no meio da turma, ninguém lhe ligava, e ela persistia num silêncio obstinado. Por seu turno, em vez de comunicar a sério com a Aomame de carne e osso, Tengo preferiu relacionar-se com ela em segredo, recorrendo à imaginação e às suas recordações.
Tengo, aos dez anos, não possuía ainda uma imagem consciente do sexo. Tudo o que ele desejava era poder agarrar de novo na mão dela, se possível. Queria que ficassem os dois sozinhos num lugar em que ela tornasse a apertar a mão dele com força. E queria ouvi-la contar uma coisa acerca dela – qualquer coisa, tanto fazia. Queria que ela lhe confessasse em voz baixa os seus segredos, os segredos de uma rapariga de dez anos. Ele faria os possíveis por compreendê-la, e isso representaria o princípio de qualquer coisa. Acontecia, porém, que Tengo não fazia ideia do que poderia ser essa coisa.
Chegou abril e começou o novo ano escolar4. Agora que frequentavam o quinto ano, Tengo e a jovem foram colocados em turmas separadas. Volta e meia, cruzavam-se nos corredores da escola, ou calhava encontrarem-se na paragem do autocarro, mas ela continuava a não manifestar qualquer interesse pela presença dele, ou pelo menos era essa a impressão com que Tengo ficava. Podiam estar os dois juntos, lado a lado, que ela permanecia impassível, sem pestanejar. Porém, tão-pouco se dava ao trabalho de desviar os olhos. Tal como anteriormente, a profundidade e o brilho continuavam ausentes do seu olhar. Tengo perguntava a si mesmo que diabo teria acontecido naquele dia, em plena sala de aulas. Havia alturas em que tudo lhe parecia um sonho. E, no entanto, a sua mão ainda conservava viva a sensação de ter sido apertada com uma força extraordinária por Aomame. Aos olhos de Tengo, o mundo estava cheio de enigmas.
Até que, um dia, quando se deu conta, aquela jovenzinha chamada Aomame abandonara a escola. Diziam que tinha sido transferida para outra, mas ninguém sabia pormenores. A bem dizer, Tengo era, muito provavelmente, o único aluno da escola primária abalado pelo desaparecimento da colega.
A partir daí, e durante muito tempo, Tengo arrependeu-se do modo como agira. Melhor dizendo, arrependeu-se da forma como não agira. Só então, nesses momentos, lhe vinham à cabeça as palavras que deveria ter pronunciado. No seu íntimo, sabia o que gostaria de lhe dizer, as coisas que precisava de partilhar com ela. Bastaria que a abordasse na rua e lhe dissesse ao que ia. Se ao menos tivesse aproveitado a oportunidade certa e tido coragem para tal! Mas Tengo não fora capaz disso. E a ocasião perdera-se para sempre.
Mesmo depois de ter acabado a primária e de ter passado para o ensino secundário, Tengo lembrava-se muitas vezes de Aomame. Nessa altura, começou a ter ereções com mais frequência e masturbava-se a pensar nela. Usava sempre a mão esquerda – a mão em que permanecia a sensação de ela lhe ter tocado com os dedos. Na sua memória, Aomame era uma rapariguinha magra, ainda sem peito, mas bastava imaginá-la vestida com a roupa de ginástica para conseguir uma ejaculação.
Chegado ao liceu, começou a sair com adolescentes da sua idade. A forma dos seios delas, acabados de despontar, notava-se, e, ao ver os seus contornos realçados por baixo da roupa, Tengo mal conseguia respirar. Apesar disso, à noite, antes de adormecer, enquanto dava uso à sua mão esquerda, era em Aomame e no seu peito liso, que ainda não começara a crescer, que ele pensava. E, de cada vez que isso acontecia, Tengo experimentava sempre um profundo sentimento de culpa. No seu íntimo, era como se estivesse a fazer qualquer coisa de perverso.
Assim que entrou para a universidade, Tengo deixou de pensar em Aomame com tanta frequência. A principal razão era que saía com raparigas a sério, de carne e osso, e mantinha com algumas delas relações sexuais. Do ponto de vista físico, encontrava-se em plena maturidade sexual e, como seria de esperar, a imagem de uma menina de dez anos, magra e equipada para fazer ginástica, não podia estar mais longe dos objetos do seu desejo.
Contudo, verdade seja dita que Tengo nunca mais voltara a experimentar uma emoção tão violenta como aquela provocada por Aomame, ao pegar-lhe na mão em plena sala de aulas da primária. No seu percurso universitário, ou depois da faculdade, até ao presente, nenhuma das mulheres que ele conhecera havia deixado no seu coração uma marca tão forte como aquela menina. Podia dizer-se que ele não lograra encontrar nelas o que realmente procurava. Travara conhecimento com mulheres bonitas e com mulheres meigas; algumas dessas mulheres tinham chegado a amá-lo. Mas, no fim, apareciam e partiam, como aves de plumagem vistosa e colorida que pousam no ramo de uma árvore antes de levantarem voo para outras paragens. Elas não podiam dar a Tengo o que ele desejava, da mesma forma que ele não as podia satisfazer.
Numa altura em que estava quase a fazer trinta anos, Tengo espantava-se pelo facto de a imagem daquela menina de dez anos lhe vir inconscientemente à cabeça, nos momentos em que deixava a mente vaguear. A jovem apertava-lhe a mão com força, no meio da sala deserta, depois das aulas, e olhava para ele de frente com os seus olhos límpidos. Por vezes, recordava a sua silhueta magra, enfiada num fato de ginástica. Ou então ela caminhava atrás da mãe, pelo meio do centro comercial de Ichikawa, numa manhã de domingo. Tinha os lábios cerrados e o olhar perdido.
É como se o meu coração fosse incapaz de se manter afastado dessa rapariga, pensava Tengo quando tal acontecia. E voltava a arrepender-se, pela enésima vez, de não lhe ter dirigido a palavra no corredor da escola.
Se ao menos tivesse tido a coragem de falar com ela, hoje a minha vida poderia ser muito diferente!
Se tornara a lembrar-se dela, era porque se encontrava a comprar edamame no supermercado. Enquanto escolhia os legumes frescos no expositor refrigerado, aconteceu-lhe pensar em Aomame de forma espontânea. Sem se dar conta, ali ficara ele com as vagens de soja-verde na mão, completamente paralisado, absorto, como que mergulhado num devaneio. Quanto tempo terá aquilo durado, não fazia ideia, mas a voz de uma mulher («Com licença») fizera-o regressar à realidade. Alto e espadaúdo como era, encontrava-se a bloquear a passagem para a secção de produtos de soja-verde.
Tengo deixou de cismar, desculpou-se, meteu as vagens de soja-verde que escolhera dentro do cesto e dirigiu-se para a caixa. Tinha comprado gambas, leite, tofu, alface e bolachas de água e sal. Misturou-se com as donas de casa que viviam no bairro e aguardou na fila a sua vez de pagar. Não dera pelas horas e deixara as compras para a altura em que as pessoas regressavam a casa e o supermercado se enchia de gente; além do mais, o empregado que estava na caixa era um novato e a fila nunca mais acabava, mas ele estava longe dali e não se importava.
Partindo do princípio de que a Aomame se encontra nesta fila, serei capaz de a reconhecer à primeira vista? No fundo, não nos vemos há quase vinte anos. A probabilidade de nos reconhecermos deve ser escassa. Ou então, imaginando que nos cruzamos no meio da rua e que eu me interrogue, «Será ela?», atrever-me-ei a abordá-la ali mesmo? O mais provável é não ter confiança suficiente em mim próprio para o fazer e deixá-la seguir o seu caminho. Isto apesar de saber que voltarei a arrepender-me: «Por que carga-d’água não lhe dirigi a palavra?»
Komatsu não se cansava de dizer a Tengo que lhe faltavam iniciativa e força de vontade. Se calhar, o homem tinha razão. Quando Tengo se sentia confuso, pensava: «Esquece!», e dava-se por vencido. Era a sua maneira de ser.
Mas se, por milagre, nos encontrássemos frente a frente, num sítio qualquer, e quisesse o destino que nos reconhecêssemos, nesse caso haveria de lhe abrir o meu coração e de confessar tudo, sem omitir nada. Então, iríamos juntos até uma cafetaria próxima (desde que ela tivesse tempo e aceitasse o meu convite) e ficaríamos ali sentados, os dois à conversa, a tomar uma bebida.
Havia muitas coisas que lhe queria dizer. Lembro-me bem de quando me apertaste a mão na sala de aulas. Depois de isso acontecer, fiquei com vontade de ser teu amigo. Queria conhecer-te melhor, mas não fui capaz, por várias razões. O principal problema era a minha timidez. Ainda hoje me arrependo. E, mais, penso muitas vezes em ti.
Obviamente que não lhe ia contar que se masturbava a pensar nela. Isso era uma coisa que pertencia a uma dimensão de outra natureza, diferente da sinceridade.
Porém, talvez fosse mais avisado não alimentar semelhante desejo. Talvez fosse melhor não voltar a vê-la. Tengo pensou para consigo que, se os dois se reencontrassem na realidade, correria o risco de ficar desapontado. Se calhar, ela transformara-se numa simples empregada de escritório, maçadora e com o cansaço estampado na cara. Ou talvez fosse uma mãe de família frustrada, daquelas que passam o tempo a ralhar com os filhos em voz estridente. Podia acontecer que os dois não descobrissem nenhum tema de conversa interessante. Sim, essa possibilidade era bastante real. Se assim fosse, ele perderia para sempre a recordação mais preciosa, que guardara durante todos aqueles anos. Mas, no fundo, Tengo tinha a convicção de que as coisas não se passariam assim. No olhar decidido e no perfil animado de tenacidade daquela rapariga de dez anos, ele lera a firme decisão de impedir a erosão provocada pelo tempo.
E em comparação, que sucedera com ele?
Ao pensar nisso, Tengo ficou inquieto.
Não seria Aomame candidata a um maior desapontamento, caso se voltassem a encontrar? Na escola primária, Tengo era reconhecido por todos como um menino-prodígio das matemáticas, para além de tirar sempre as melhores notas em quase todas as disciplinas. Isto sem esquecer as suas evidentes qualidades desportivas. Até os outros professores o tratavam com enorme respeito e depositavam nele grandes esperanças, vaticinando-lhe um futuro brilhante. Aos olhos de Aomame, quem sabe?, ele poderia ser uma espécie de herói. Ora, a verdade é que, no presente, não passava de um professor contratado em regime de trabalho temporário. Por um lado, não deixava de ser um trabalho cómodo, que lhe permitia viver sem privações e levar por diante a sua existência solitária, mas encontrava-se longe de poder ser considerado um «pilar da sociedade». Ao mesmo tempo que dava aulas, escrevia ficção, muito embora nenhum dos seus romances tivesse sido publicado. Para arredondar as contas ao fim do mês, redigia a página de horóscopos para uma revista feminina. Apesar de serem textos bastante apreciados, tudo aquilo não passava de uma quantidade de patranhas, falando bem e depressa. Não tinha nenhum amigo digno desse nome, nem estava apaixonado por ninguém. Por assim dizer, a única relação pessoal que mantinha limitava-se aos encontros mais ou menos furtivos com uma mulher casada, dez anos mais velha do que ele. Se tivesse de nomear um feito de que se sentisse orgulhoso até à data, apontaria o seu papel, enquanto escritor-fantasma, na tarefa de reescrever A Crisálida de Ar, que entretanto se convertera num best-seller. Precisamente um segredo que não podia ser revelado ao mundo.
As reflexões de Tengo tinham-no levado até àquele ponto, quando a empregada da caixa se apoderou do seu cesto de compras.
* * *
Com um saco de papel nos braços, regressou ao apartamento. Trocou de roupa e vestiu uns calções curtos, foi ao frigorífico buscar uma lata de cerveja e, começando a bebê-la de pé, pôs ao lume uma panela grande com água. Enquanto esperava que a água levantasse fervura, arranjou as vagens fibrosas de soja-verde, espalhou-as sobre a tábua de cortar alimentos e deitou-lhes sal. A seguir, mergulhou-as na água em ebulição.
Porque será que aquela rapariguinha magra de dez anos continua viva no meu coração? Veio ter comigo, no fim das aulas, e apertou-me a mão, sem dizer nada. Só isso. Ao mesmo tempo, porém, era como se Aomame se tivesse apoderado de uma parte dele – uma parte do coração ou do corpo. E, no seu lugar, tivesse deixado parte do coração ou do corpo dela dentro dele. Essa troca importantíssima realizara-se num abrir e fechar de olhos.
Tengo muniu-se de uma faca de cozinha e picou uma boa quantidade de gengibre. A seguir, cortou aipo e cogumelos a olho. Também juntou coentros finamente picados. Descascou as gambas e lavou-as debaixo da torneira. Estendeu uma folha de papel absorvente e colocou as gambas por ordem, uma a uma, como se formassem uma fileira de soldados. Uma vez cozidos os feijões de soja, escorreu-os através de um passador e deixou-os arrefecer. A seguir, colocou uma frigideira grande ao lume, deitou óleo de sésamo branco lá dentro e espalhou bem. Salteou o gengibre picado devagarinho em lume brando.
Quem me dera encontrá-la agora mesmo, pensou Tengo de novo. Pouco importava que ela ficasse desapontada com ele, ou que a ele lhe sucedesse o mesmo, pela parte que lhe tocava. Acima de tudo, Tengo queria vê-la. Quanto mais não fosse, queria ficar a saber que rumo tomara a vida dela, desde a última vez em que se tinham visto, onde se encontrava a viver, que tipo de coisas a faziam feliz e o que a entristecia. Mesmo que os dois tivessem mudado ou que não existisse possibilidade de se unirem, porque ninguém podia alterar o facto de terem trocado entre si qualquer coisa de muito valioso, havia muito tempo, naquela sala de aulas vazia.
Deitou o aipo e os cogumelos picados na frigideira. Aumentou um nadinha o lume, mexendo sempre os ingredientes com uma espátula de bambu. Retificou ligeiramente a quantidade de sal e de pimenta. Quando as verduras começaram a amolecer, acrescentou as gambas, que entretanto tivera o cuidado de escorrer. Voltou a temperar com sal e pimenta e serviu-se de um copinho de saqué. Regou tudo com molho de soja e, para finalizar, polvilhou com coentros picados. Tengo executara todas estas operações concentrado, sem ter consciência do que estava a fazer, como acontece quando se muda o controlo de um avião para o piloto automático. As mãos movimentavam-se com precisão, mas a sua cabeça estivera a pensar em Aomame durante o tempo todo.
Assim que acabou de saltear os legumes e as gambas, Tengo transferiu o conteúdo da frigideira para um prato grande. Tirou outra cerveja do frigorífico, sentou-se à mesa e, mergulhado nas suas reflexões, comeu a refeição ainda fumegante que tinha diante de si.
Nestes últimos meses, parece-me óbvio que mudei, e muito. Talvez se possa mesmo dizer que amadureci, tanto mentalmente como no plano das emoções. Já não era sem tempo... agora que estou quase a fazer trinta anos. Espantoso! Tengo abanou a cabeça, fazendo troça de si mesmo, empunhando a lata de cerveja que entretanto começara a beber. É realmente incrível! A este ritmo, quanto tempo te falta para atingires a maturidade de uma pessoa normal?
Em todo o caso, parecia ter sido A Crisálida de Ar a obra responsável por aquela mudança interior. Ao reescrever o romance de Fuka-Eri ao seu estilo, crescera dentro dele o desejo de dar forma literária à história que trazia dentro de si, a que poderia chamar sua. E parte desse novo entusiasmo incluía o desejo de encontrar Aomame. Nos últimos tempos, não parava de pensar nela. À mínima oportunidade, havia qualquer coisa que o levava a regressar em pensamento até àquela sala de aulas e àquela tarde, vinte anos antes. Como se estivesse na praia, à beira-mar, e viesse uma onda forte que o fizesse perder o pé e o arrastasse com ela.
Tengo acabou por deixar metade da cerveja na lata e não terminou o prato de gambas com legumes salteados. Deitou o resto da cerveja pelo cano do lava-loiça, passou a comida para um prato mais pequeno, cobriu-o com película transparente e meteu-o no frigorífico.
Após a refeição, Tengo sentou-se à secretária, ligou o computador e abriu um documento informático, em que já começara a escrever.
Verdade seja dita que reescrever o seu passado não fazia muito sentido, e Tengo era o primeiro a ter consciência desse facto. A sua namorada mais velha costumava dizer o mesmo, e com razão. Por mais empenho ou dedicação que ele colocasse nessa tarefa, não podia modificar a sua condição presente. O tempo possui a força capaz de anular todas as mudanças realizadas pela mão do ser humano. Por cima das emendas feitas, acrescenta mais alterações, até devolver o fluxo ao seu curso original. Ainda que fossem corrigidos numerosos factos insignificantes, no fim, Tengo continuaria sempre a ser Tengo.
O que tinha de fazer era, provavelmente, erguer-se na encruzilhada do presente e olhar com coragem e honestidade para o passado. Escrever o futuro, como se estivesse a reescrever o passado. Não havia outro caminho.
Penitência e arrependimento
torturam o meu coração pecador.
Que as lágrimas que derramo
se tornem um doce bálsamo para ti,
meu fiel Jesus.
Assim rezava a letra da «Paixão segundo São Mateus», que Fuka-Eri lhe cantara da última vez. Tengo ficara com as palavras no ouvido e, no dia seguinte, tornara a escutar a composição, num disco que havia lá em casa, tendo procurado a tradução do texto. Tratava-se da ária extraída da «Unção de Betânia» e correspondia ao episódio da Unção de Betânia, logo no início da Paixão. Quando Jesus visitou a casa do leproso, na cidade de Betânia, uma mulher derramou sobre a cabeça do Messias «um precioso bálsamo». Os discípulos que o rodeavam censuraram à mulher aquela extravagância, dizendo que deveria tê-lo vendido e usado o dinheiro para auxiliar os mais necessitados. Mas Jesus travou a indignação dos seus discípulos e disse-lhes: «Esta mulher realizou uma boa ação. Preparou-me para a sepultura.»
A mulher sabia que Jesus ia morrer em breve. Por isso não pôde deixar de aspergir a sua cabeça com aquele delicado óleo perfumado; aos olhos dela, era como se o ungisse com as suas próprias lágrimas. Ele sabia que não tardaria a ter de percorrer o caminho da morte, e disse aos discípulos: «Em verdade vos digo que, em qualquer lugar do mundo onde seja pregado este Evangelho, o que esta mulher fez será contado em memória dela.»
Também eles não tiveram o poder de modificar o futuro, escusado será dizer.
Tengo voltou a fechar os olhos, respirou fundo e ordenou na sua cabeça as palavras que lhe faziam falta. Trocou-lhes a ordem para que a imagem ganhasse mais nitidez e uma outra precisão. Por fim, afinou o ritmo.
À maneira de Vladimir Horowitz diante das oitenta e oito teclas de um piano acabado de estrear, arqueou lentamente os dez dedos no ar. Assim que se sentiu pronto, desatou a teclar com determinação os carateres, até encher o ecrã do computador.
Descreveu um mundo onde, ao cair da noite, a oriente, duas luas apareciam suspensas no céu. As gentes que ali viviam. A passagem do tempo.
«Em verdade vos digo que, em qualquer lugar do mundo onde seja pregado este Evangelho, o que esta mulher fez será contado em memória dela.»
4 No Japão, o ano escolar tem início no dia 1 de abril e divide-se em três períodos. O primeiro vai de abril a julho, o segundo de setembro a dezembro e o terceiro prolonga-se de janeiro até março. (N. das T.)
5
AOMAME
Quando um rato encontra um gato vegetariano
Depois de ter aceitado a morte de Ayumi como um facto consumado, Aomame passou por um processo de adaptação mental. Terminada essa fase, vieram as lágrimas. Cobriu o rosto com as mãos e chorou quase em silêncio, sem um lamento, enquanto os ombros estremeciam ligeiramente, embalados pelos soluços. Dir-se-ia que não queria que o resto do mundo a visse chorar.
As cortinas da janela estavam bem fechadas, mas nunca fiando... podia haver alguém à espreita. Naquela noite, diante da edição vespertina do jornal aberta em cima da mesa de cozinha e confrontada com a notícia, Aomame chorou sem parar. Volta e meia, deixava escapar um soluço; porém, tirando isso, durante o resto do tempo chorou de mansinho. As lágrimas corriam-lhe pelas mãos e derramavam-se sobre o jornal.
Aomame não era uma pessoa de lágrima fácil. Quando tinha motivos para isso, em vez de chorar dava largas à sua irritação. Contra alguém ou consigo mesma. O que significava que era raríssimo chorar. Contudo, mal começava a lacrimejar, tornava-se impossível deter o rio de lágrimas. Era a primeira vez que chorava assim, de forma incontrolável, desde o suicídio de Tamaki Otsuka. Quantos anos haviam passado? Não se conseguiu lembrar. De qualquer modo, tinha sido há muito tempo, e lembrava-se de ter chorado lágrimas que nunca mais acabavam. A coisa prolongou-se dias a fio, durante os quais ela não comeu, fechada em casa, longe de tudo e de todos. De vez em quando, devolvia ao corpo a quantidade de líquido que perdera sob a forma de lágrimas, e só então, completamente exausta, se descontraía um pouco e se deixava dormir. O resto do tempo passara-o a chorar, sem tréguas. Essa tinha sido a última vez.
Ayumi já não fazia parte deste mundo. Convertera-se num cadáver frio, desprovido de vida e de calor, que por aquela altura já deveria ter chegado às mãos do médico-legista. Uma vez concluída a autópsia, voltariam a cosê-la e, provavelmente, dar-lhe-iam um funeral decente, enviando-a depois para ser cremada. Transformar-se-ia em fumo e ascenderia ao céu, misturada com as nuvens. Voltaria à terra sob a forma de chuva e contribuiria para ajudar a crescer, algures, um pedaço de relva sem história. Porém, o certo é que Aomame não tornaria a ver Ayumi com vida. Tudo aquilo lhe parecia uma ideia terrivelmente injusta, para não dizer retorcida e absurda, que ia contra a ordem natural das coisas.
Desde que Tamaki Otsuka deixara este mundo, Ayumi tinha sido a única pessoa por quem Aomame conseguira sentir, mesmo que de forma ténue, algo parecido com amizade. Infelizmente, havia limites para essa amizade. Ayumi era uma agente da polícia, e Aomame uma assassina em série. Aos olhos da lei, Aomame era, sem sombra de dúvida, uma criminosa: matava por convicção e consciência. Fazia parte dos que estão fora da lei, ao passo que Ayumi pertencia ao grupo dos que faziam cumprir a lei.
Por esse motivo, ainda que Ayumi tivesse procurado manter com ela um relacionamento mais profundo, Aomame esforçara-se por mostrar-se uma mulher de coração empedernido e não corresponder aos sentimentos amistosos de Ayumi. Se tivesse alimentado uma ligação mais íntima, em que ambas precisassem de recorrer uma à outra, teriam surgido inevitavelmente contradições e viriam a lume histórias incoerentes que poderiam ter-se revelado fatais para Aomame. Ela era uma pessoa sincera e leal, incapaz de entabular uma relação pessoal com alguém e, ao mesmo tempo, ter segredos e contar mentiras. Tratava-se de uma situação que a perturbava, e não podia deixar que isso acontecesse.
Ayumi possuía uma excelente intuição. No fundo, a sua atitude extrovertida não passava de uma encenação que escondia um temperamento frágil e vulnerável. Aomame sabia isso perfeitamente. Ao jogar à defesa, o mais certo era ter feito com que Ayumi se sentisse triste, para além de rejeitada e posta à margem. Esse pensamento atingiu Aomame em cheio. Foi como se lhe espetassem uma agulha no coração.
Fora assim que Ayumi acabara assassinada. Possivelmente, teria conhecido um homem algures na cidade, tomaram um copo juntos e seguiram os dois para o hotel. Aí, encerrados num quarto às escuras, ter-se-iam envolvido num elaborado jogo sexual que metia algemas, uma mordaça e vendas nos olhos. Aomame podia imaginar a cena. O homem passava o cinto do robe à volta do pescoço da mulher, apertando cada vez com mais força, estrangulando-a, e à medida que a agonia dela aumentava, vendo-a retorcer-se, crescia a sua excitação, até que ejaculou. Dessa vez, o homem aplicou demasiada força na mão. O que tinha de acabar não acabou a tempo.
A própria Ayumi temia que uma coisa semelhante pudesse algum dia vir a acontecer. A intervalos regulares, ela sentia necessidade de ter sexo violento. O seu corpo – e provavelmente a sua mente – precisavam disso. Por outro lado, tal como Aomame, não queria um companheiro fixo. A ideia de manter uma relação estável asfixiava-a e provocava-lhe insegurança. Daí que preferisse praticar sexo livre, levado ao limite, e, quem sabe?, inconscientemente desejar que a magoassem. Ao contrário de Aomame, que era mais prudente e não permitia que lhe fizessem mal. Caso alguém tentasse, resistiria com todas as suas forças. No entanto, Ayumi tinha tendência a satisfazer o que as outras pessoas lhe pediam, fosse qual fosse o desejo que o homem em questão pudesse ter em mente; mas, em troca, mantinha as expectativas, perguntando a si mesma: o que me dará esta pessoa? Não deixava de ser uma tendência perigosa. Antes do mais, porque se tratava de desconhecidos e de casos que não iam além de uma noite. Em tão pouco tempo, era impossível saber que desejos possuíam e que tendência ocultavam. Pelo menos até chegar o momento crítico. Claro está que Ayumi era a primeira a ter consciência do risco que corria. Por essa mesma razão, necessitava de uma parceira estável como Aomame. Alguém que lhe pusesse travão e tomasse bem conta dela.
À sua maneira, também Aomame precisava dela. Ayumi era dona e senhora de algumas qualidades que lhe faziam falta. A saber, um temperamento jovial e aberto que inspirava confiança aos outros, a afabilidade, a sua curiosidade natural, uma atitude positiva, um talento especial, quase infantil, para fazer conversa. Um peito desenvolvido que atraía os olhares. A seu lado, Aomame tinha apenas de esboçar um sorriso misterioso. Os homens queriam saber o que se escondia por detrás de tudo isso. Nesse sentido, Ayumi e Aomame formavam a combinação ideal. Uma máquina de sexo sem rival.
Independentemente das circunstâncias, eu deveria ter sido mais compreensiva com aquela rapariga, pensava Aomame. Devia ter retribuído os seus sentimentos e os seus abraços. Porque era isso que ela desejava: ser aceite e abraçada sem condições, sentir-se confortada, nem que fosse por breves instantes. E, no entanto, fui incapaz de corresponder às suas necessidades. O meu instinto de autodefesa é demasiado forte, e, a somar a isso, não quis manchar a memória da Tamaki Otsuka.
E foi assim que Ayumi se aventurou pelas ruas da cidade, à noite, sem Aomame por perto, acabando por morrer estrangulada. Com os pulsos manietados por umas genuínas algemas de metal gélido, de olhos vendados e com uma peça de roupa interior enfiada na boca. Afinal, os temores de Ayumi haviam-se tornado realidade. Se Aomame a tivesse tratado com mais ternura, talvez naquela vez a outra não tivesse enfrentado sozinha a noite na cidade. Pegaria no telefone para convidar Aomame a juntar-se a ela. E então as duas teriam ido até um sítio qualquer mais seguro, acabando depois por cair nos braços de algum homem, mas controlando sempre a situação uma da outra. Acontecera, porém, que Ayumi não quisera incomodar Aomame. E Aomame, por seu turno, não lhe telefonara uma única vez a convidá-la para sair.
Ainda não eram quatro da madrugada quando Aomame se sentiu incapaz de suportar por mais tempo a solidão do seu apartamento. Calçou umas sandálias e saiu de casa tal como estava vestida, apenas com um top de alças e uns calções, deambulando sem destino pelas ruas. Alguém chamou por ela, mas nem sequer se virou. Caminhou até ficar com sede. Só então parou numa loja de conveniência, daquelas que ficam abertas durante toda a noite, comprou um pacote grande de sumo de laranja e bebeu-o mesmo ali. A seguir, regressou ao apartamento e chorou o que tinha a chorar.
Gostava muito da Ayumi. Gostava mais daquela rapariga do que pensava. Ela queria tocar-me. Quem me dera tê-la deixado tocar-me onde ela desejava e como ela bem queria.
No dia seguinte, o jornal trazia um artigo intitulado «O caso da mulher-polícia estrangulada num hotel de Shibuya». A polícia mobilizara todos os seus meios para encontrar o paradeiro do suspeito, que se encontrava em fuga. Segundo a notícia, os companheiros de Ayumi mostravam-se profundamente incrédulos. A jovem era uma pessoa alegre, muito estimada, conhecida por ser responsável e eficiente no exercício das suas funções enquanto agente policial, para além de ter obtido sempre excelentes qualificações. Muitos dos seus familiares, incluindo o pai e o irmão, trabalhavam ou tinham trabalhado na polícia, e os vínculos familiares eram sólidos. Encontravam-se em estado de choque, todos eles, sem perceber como é que uma coisa daquelas podia ter acontecido a uma pessoa como ela.
Ninguém sabia, pensou Aomame. Mas eu sei. A Ayumi sentia uma espécie de vazio dentro dela, semelhante a um deserto nos confins da Terra. Toda a água que se vertesse sobre ele seria absorvida pelo solo, no mesmo lugar e no mesmo instante. Não ficaria uma gota para amostra. Nenhuma forma de vida poderia criar ali raízes. Nem sequer havia pássaros a voar no céu. A Ayumi era a única a saber o que provocara essa desolação no seu interior. E daí, talvez não, podia ser que nem a própria Ayumi tivesse consciência da verdadeira causa que levara a esse abandono. Do que não havia dúvida era que os desejos sexuais perversos que os homens lhe exigiam de forma insistente constituíam um elemento preponderante em todo o processo. A minha amiga teve de fazer-se a si própria, criando a personagem jovial que a caraterizava, a fim de se barricar e manter fora do alcance dos outros essa carência fatal. Mas se alguém se desse ao trabalho de a despojar de cada uma das camadas do ego fictício que ela mesma construiu, ficaria apenas um vazio abismal e a sede ardente por ele provocada.
Aomame sacou a HK4 da caixa de sapatos, introduziu o carregador com movimentos hábeis, libertou a patilha de segurança, puxou a corrediça à retaguarda, fez subir uma munição para a câmara, levantou o cão, agarrou firmemente na pistola com as duas mãos e fez pontaria a um ponto determinado na parede. A pistola não se moveu nem um bocadinho. As mãos dela tinham deixado de tremer. Aomame susteve a respiração, concentrou-se e expirou com força. Baixando a arma, tornou a travá-la. Comprovou o peso na palma da mão e contemplou o brilho opaco que dela se desprendia. Aquela arma já se convertera numa parte do seu corpo.
Tenho de controlar as minhas emoções, disse Aomame para consigo mesma. Mesmo que infligisse o merecido castigo ao tio e ao irmão da Ayumi, o mais provável era eles nem sequer compreenderem o motivo da punição. Além do mais, faça eu o que fizer, nada trará a Ayumi de volta. É triste reconhecer uma coisa destas, mas tinha de acontecer, mais cedo ou mais tarde. A Ayumi encaminhava-se, de forma lenta mas inexorável, para o centro de um vórtice fatal. Por mais atenção e calor humano que eu lhe tivesse dado, com tudo o que isso implicava, não teria podido fazer milagres. Tenho de parar de chorar. Preciso de recuperar o ânimo. É importante dar prioridade às regras e pô-las antes de nós. Isso é que interessa, como disse o Tamaru.
* * *
Tinham passado cinco dias desde a morte de Ayumi, quando o pager tocou. Aomame estava na cozinha, a ouvir as notícias na rádio, à espera de que a água fervesse para fazer café. O pager encontrava-se pousado em cima da mesa. Ela olhou para o número que aparecia no visor. A mensagem só podia vir de Tamaru, não tinha dúvidas, ainda que se tratasse de um número desconhecido. Dirigiu-se à cabina telefónica mais próxima e marcou o número. Tamaru atendeu ao terceiro toque.
– Estás preparada? – perguntou ele.
– Claro – respondeu Aomame.
– Tenho uma mensagem da senhora para ti. Esta noite, às sete da tarde, na entrada principal do Hotel Okura. Prepara-te para o trabalho, como de costume. Desculpa avisar tão em cima da hora, mas não tivemos possibilidade de marcar o encontro mais cedo.
– Esta noite, às sete da tarde, na entrada principal do Hotel Okura – repetiu Aomame mecanicamente.
– Gostaria de te desejar boa sorte, mas não creio que sirva de muito – afirmou Tamaru.
– Porque tu não és dos que confiam na sorte.
– Mesmo que quisesse confiar na sorte, não sei ao certo o que isso é – observou Tamaru. – Nunca a vi mais gorda.
– Deixa lá, não faz falta que me desejes sorte. Em compensação, preciso de um favor teu. No meu apartamento há uma árvore-da-borracha num vaso. Gostaria que tomasses conta do assunto. Não fui capaz de me desfazer dela.
– Disso encarrego-me eu.
– Obrigada.
– Tratar de uma árvore-da-borracha sempre dá menos trabalho do que cuidar de um gato ou de peixes exóticos. Mais alguma coisa?
– Nada mais. Quanto ao resto, podes deitar tudo fora.
– Quando acabares o trabalho, dirige-te à estação de Shinjuku e liga para este número outra vez. Nessa altura, dar-te-ei mais instruções.
– Quando acabar o trabalho, dirijo-me à estação de Shinjuku e ligo para este número – repetiu Aomame.
– Calculo que já saibas e não seja preciso dizer-to: não apontes este número de telefone. Quando saíres de casa, destrói o pager e livra-te dele.
– De acordo. Farei como dizes.
– Foi tudo preparado ao pormenor, não tens de te preocupar. Deixa o resto nas nossas mãos.
– Não estou preocupada – assegurou Aomame.
Tamaru ficou calado por momentos. Depois disse:
– Posso dar-te a minha opinião sincera?
– Força.
– Não pretendo com isto dizer que o que estão a fazer é inútil, palavra de honra. Isso é um problema vosso, e não meu. Contudo, e para não ir mais longe, considero aquilo a que se propõem uma verdadeira temeridade. Além de que é uma empresa que nunca mais acaba.
– Pode ser que tenhas razão – disse Aomame. – Mas agora é tarde e já não se pode voltar atrás.
– Como acontece com as avalanchas, quando chega a primavera.
– Talvez.
– No entanto, o normal seria as pessoas sensatas não se aproximarem de um lugar onde possa ocorrer uma avalancha, numa época em que há o risco de elas acontecerem.
– Para começar, uma pessoa normal, com alguma sensibilidade, não estaria a ter uma conversa desta natureza contigo.
– Pode ser que tenhas razão – admitiu Tamaru. – Seja como for, tens algum familiar que gostasses de avisar, no caso de haver uma avalancha?
– Não tenho família.
– Não tiveste nunca ou «tens mas é como se não tivesses»?
– Tenho mas é como se não tivesse – respondeu Aomame.
– Muito bem – disse Tamaru. – Nada como viajar com pouca bagagem. Ter uma árvore-da-borracha como família seria o ideal.
– Ao ver os peixinhos-vermelhos em casa da velha senhora, de repente fiquei com vontade de arranjar também uns quantos lá para casa; ficariam bem na decoração. São pequenos, silenciosos e não exigem demasiado de nós. Então, no dia seguinte fui a uma loja situada diante da estação, para ver se comprava alguns, mas, depois de os ver ali, dentro do aquário, passou-me a vontade. Em vez dos peixes, comprei uma mísera árvore-da-borracha, por sinal a última que havia na loja.
– Quanto a mim, foi uma boa opção.
– Posso nunca mais ter oportunidade de comprar peixes-vermelhos.
– É bem possível – disse Tamaru. – Espero que possas comprar outra árvore-da-borracha.
Fez-se um breve silêncio.
– Esta noite, às sete, na entrada principal do Hotel Okura – confirmou Aomame.
– Só tens de aguardar ali sentada. Eles encarregar-se-ão de te encontrar.
– Eles encontram-me.
Tamaru aclarou a garganta.
– A propósito, conheces a história do gato vegetariano e do rato?
– Não, confesso que nunca ouvi essa história.
– Queres que ta conte?
– Claro que sim.
– Um rato pequeno deu de caras com um gato enorme no meio de um sótão e foi por ele perseguido, sem conseguir encontrar escapatória, até ficar encurralado numa esquina. A tremer, o rato disse-lhe: «Por favor, senhor Gato, não me coma. Tenho de voltar para a minha família. Os meus filhos estão à minha espera, cheiinhos de fome. Peço-lhe por tudo que me deixe partir.» Respondeu-lhe o gato: «Não te preocupes, pois não está nos meus planos comer-te. Para ser honesto, ainda que não ande para aí a gritá-lo aos quatro ventos, sou vegetariano. Não consumo qualquer espécie de carne. Foi uma sorte teres topado comigo por acaso.» Ao que o rato lhe respondeu: «Ah, que dia maravilhoso! Que rato mais sortudo que eu sou, por ter encontrado no meu caminho um gato vegetariano!» Palavras não eram ditas e, no segundo seguinte, o gato saltou para cima do rato, fincou-lhe as garras e imobilizou-o, cravando-lhe em seguida os dentes afiados no pescoço. O rato, agonizante, perguntou então ao gato, com as últimas forças que lhe restavam: «Mas o senhor Gato não me tinha dito que era vegetariano e que não costumava comer carne? Estava a mentir?» O gato, lambendo os beiços, disse: «É verdade que não como carne. Não estava a mentir. Por isso, vou levar-te na boca, para minha casa, e trocar-te por uma alface.»
Aomame ficou a cismar na história.
– Qual é a moral da história?
– Não há nenhuma em especial. Veio-me de repente à cabeça, ainda há pouco, quando falávamos da sorte. Mais nada. Claro que tu podes tirar daí a conclusão que quiseres.
– Uma história comovedora.
– Ah, outra coisa. De certeza que te vão revistar e examinar o teu saco. É um pessoal muito prudente. Tem isso bem presente.
– Não me esquecerei.
– Muito bem... – disse Tamaru. – Nesse caso, voltaremos a encontrar-nos por aí.
– Sim, por aí – repetiu Aomame de forma automática.
A chamada terminou nesse ponto. Aomame ainda ficou a olhar para o auscultador durante um bocado, franziu ligeiramente a cara e só então pousou o telefone. Depois de ter memorizado o número que aparecia no visor do pager, apagou-o. Voltaremos a encontrar-nos por aí, repetiu Aomame, na sua cabeça. Apesar de saber que, provavelmente, nunca mais tornaria a ver Tamaru.
Aomame leu a edição matutina do jornal de fio a pavio, mas não descobriu uma única notícia sobre o homicídio de Ayumi. Tudo indicava que a investigação criminal não registara grandes progressos. Era provável que as revistas semanais pegassem no caso ao mesmo tempo e desatassem todas a abordá-lo, cada uma mostrando um ângulo mais sensacionalista do que a outra. Uma jovem mulher-polícia entregava-se a jogos eróticos que envolviam algemas, num love hotel em Shibuya, e acabara estrangulada, tendo sido encontrada completamente nua. Aomame não sentia a mínima vontade de ler esse tipo de artigos tendenciosos. Desde que o incidente se registara, tinha evitado ligar o televisor. A última coisa que queria era que lhe entrasse pela casa dentro uma jornalista de televisão, com aquela vozinha irritantemente aguda e artificial que elas costumavam ter, com mais informações pormenorizadas acerca da morte de Ayumi.
Desejava que o assassino fosse apanhado, como é evidente. O autor do crime tinha de ser castigado a qualquer preço. Mas que diferença faria? Mesmo que ele fosse detido e julgado, e viessem a lume todos os pormenores do homicídio, o que é que isso mudaria? Acontecesse o que acontecesse, nada devolveria a vida a Ayumi, era claro como a água. Em todo o caso, a probabilidade de a sentença ser leve era grande. O crime seria julgado como homicídio por negligência e considerado um acidente. Nem mesmo a pena de morte poderia reparar o mal feito. Aomame fechou o jornal, apoiou os cotovelos na mesa, tapou a cara com as mãos e assim se deixou ficar por momentos. Pensou em Ayumi, mas as lágrimas não vieram. A única coisa que sentia era a raiva a crescer-lhe no peito.
Até às sete da tarde, ainda tinha tempo de sobra. Nesse dia, Aomame não ia trabalhar no ginásio nem contava fazer mais nada. Já depositara a mala de viagem e o saco de desporto dentro de um cacifo, na estação de Shinjuku, tal como Tamaru lhe havia sugerido. Dentro da mala enfiara um maço de notas e mudas (incluindo roupa interior e meias) para vários dias. De três em três dias, Aomame fizera questão de ir até à estação depositar moedas no cacifo e verificar que estava tudo como havia deixado. Não precisava de limpar o apartamento, e mesmo que pensasse em cozinhar, o frigorífico encontrava-se quase vazio. No seu quarto,
tirando a árvore-da-borracha, não havia praticamente nada que cheirasse a vida. Ela desfizera-se de tudo aquilo que pudesse fornecer qualquer informação pessoal. As gavetas estavam vazias. Eu própria já aqui não estarei, a partir de amanhã. Não ficará nenhum rasto da minha presença.
A roupa que ia levar vestida nessa tarde estava cuidadosamente dobrada, em cima da cama. Ao lado encontrava-se um saco de desporto azul. Lá dentro, todo o material necessário para os exercícios de estiramentos. Aomame tornou a verificar o seu conteúdo, por precaução: top e calças de jérsei, uma esteira de ioga, um conjunto de toalhas, uma grande e uma pequena, e o pequeno estojo rígido que continha o picador de gelo bem afiado. Não faltava nada. Sacou o picador de gelo do estojo, retirou a proteção de cortiça e tocou com o dedo na ponta, para comprovar se estava suficientemente afiada. Serviu-se da pedra de afiar mais fina que tinha e aguçou-a um pouco mais, não fosse o diabo tecê-las. Visualizou mentalmente a ponta da agulha penetrando num ponto preciso da nuca do homem, sem produzir um som, como se tivesse sido absorvida. Para não variar, tudo terminaria numa questão de segundos. Sem gritos nem sangue. Apenas um ligeiro espasmo. Aomame voltou a espetar a cortiça na extremidade da agulha e guardou-a no estojo com todo o cuidado.
A seguir, tirou de dentro da caixa de sapatos a HK4 embrulhada na T-shirt e alimentou o carregador com as sete munições de nove milímetros, sempre com movimentos seguros. Meteu uma munição na câmara, produzindo um ruído seco. Destravou a patilha de segurança e tornou a acioná-la. Envolveu a arma num lenço branco e enfiou-a dentro de uma bolsinha de plástico. Por cima meteu roupa interior, a fim de camuflar a pistola.
Terei deixado alguma coisa por fazer?
Aomame não se conseguiu lembrar de nada. Foi à cozinha e preparou um café com a água que estava ao lume. Bebeu o seu café sentada à mesa e comeu um croissant.
Este pode muito bem ser o meu último trabalho, pensou para si mesma. Além de que seria também o mais importante e o mais difícil. Uma vez cumprida esta missão, nunca mais teria de matar ninguém.
Aomame não estava contra a ideia de perder a sua identidade. De certa maneira, a ideia até lhe agradava. Não gostava do nome nem da cara que tinha e, que se lembrasse, não havia assim nenhum acontecimento do seu passado que ficasse com pena de ver desaparecer. Era como se fosse um reajustamento da sua vida. Talvez a oportunidade de recomeçar do zero seja aquilo por que tanto espero.
Ainda que possa parecer estranho, a única coisa que Aomame não queria perder eram os seus pobres seios minúsculos. Desde os doze anos que vivia num estado de permanente insatisfação com o tamanho e a forma do seu peito. Se calhar, a vida poderia ter decorrido de forma mais tranquila se tivesse seios mais volumosos. Quantas vezes lhe passara aquilo pela cabeça? Porém, ao deparar-se-lhe a oportunidade concreta de aumentar o tamanho do peito, deu-se conta de que não desejava fazê-lo. Preferia ficar com os seios que tinha. Vendo bem, eram do tamanho perfeito.
Tocou com as duas mãos nos seios por cima da camisola de malha fina. Eram os mesmos de sempre: tinham a forma de massa de pão que não chegara a levedar bem (por culpa dos ingredientes mal combinados na mistura), e apresentavam tamanhos um nadinha diferentes. Aomame abanou a cabeça. Que importa? Eu sou assim.
Que ficará de mim, tirando o meu peito?
As recordações do Tengo, bem entendido. A sensação deixada pela sua mão na minha permanecerá para sempre. Aquele estremecimento violento do meu coração. O desejo de estar nos seus braços. Mesmo que me transforme numa pessoa diferente, nunca me poderão tirar o amor que sinto pelo Tengo. É essa a grande diferença entre mim e a Ayumi. No âmago da minha existência não existe um vazio, nem uma zona árida e devastada. No mais fundo do meu ser há amor. Continuarei sempre a pensar naquele rapazinho de dez anos chamado Tengo – na sua força, na sua inteligência, na sua bondade. Bem sei que ele não se encontra «aqui», mas um corpo inexistente nunca morre, da mesma forma que as promessas por cumprir não se podem quebrar.
O rapaz chamado Tengo, que tinha trinta anos e permanecia no interior de Aomame, não era o Tengo real. Por assim dizer, não passava de uma criação mental, fruto da imaginação dela. Tengo conservava a sua força, bem como a inteligência e a ternura. A juntar a isso, possuía agora uns braços vigorosos de homem, um peito robusto e os órgãos genitais desenvolvidos, de um adulto. Quando ela o desejava, ele estava sempre a seu lado. Apertava-a com força nos seus braços, acariciava-lhe o cabelo, beijava-a, num quarto sempre às escuras, e Aomame não conseguia distinguir o rosto dele. Só encontrava os seus olhos. Mesmo na obscuridade, ela ia ao fundo dos olhos de Tengo e via o mundo como ele o via.
A razão pela qual Aomame sentia, por vezes, uma vontade irreprimível de ir para a cama com outros homens era porque queria conservar essa existência de Tengo, que ia crescendo dentro dela, o mais pura possível. Ao entregar-se à prática de sexo promíscuo com desconhecidos, esperava por certo libertar o seu corpo desses apetites que se apoderavam dela e a mantinham prisioneira. Queria passar tempo sozinha com Tengo, na intimidade, sem que ninguém os perturbasse, nesse mundo calmo e silencioso que partilhava apenas com ele após a libertação. O mais provável era ser esse o desejo de Aomame.
Nessa tarde, Aomame passou várias horas a pensar em Tengo. Sentada na cadeira de alumínio que colocara na sua estreita varanda, a olhar para o céu, entretida a escutar o rumor dos automóveis, segurava volta e meia por entre os dedos uma folha da pobre árvore-da-borracha, enquanto pensava nele. Ainda era cedo para aparecerem as duas luas no céu. Isso só deveria acontecer horas mais tarde.
Onde estarei amanhã a esta hora?, pensou Aomame. Não fazia a mínima ideia, mas isso não tinha qualquer importância, comparado com o facto de Tengo existir neste mundo.
* * *
Aomame regou pela última vez a árvore-da-borracha e pôs a tocar no gira-discos a Sinfonietta de Janácek. Desfizera-se de todos os seus álbuns, tendo ficado apenas com aquele. Fechou os olhos e concentrou-se na música. Imaginou o vento a percorrer as planícies da Boémia. Como seria maravilhoso poderem caminhar os dois sozinhos, sem rumo, num lugar parecido. Iriam de mãos dadas, escusado será dizer. A brisa soprava, fazendo balançar em silêncio as ervas verdes e macias, ao sabor da cadência do vento. Aomame podia sentir a tepidez da mão de Tengo na palma da sua mão. A imagem ia-se fundindo gradualmente, como o final feliz de um filme.
Em seguida, Aomame deitou-se na cama e dormiu cerca de meia hora. Não sonhou. Era um sono que não precisava de sonhos. Ao despertar, os ponteiros do relógio marcavam quatro e meia. Com a manteiga e os restos que havia no frigorífico, preparou uns ovos com presunto. Bebeu sumo de laranja diretamente da embalagem. O silêncio que se seguiu à sesta revelou-se estranho e pesado. Ao ligar o rádio, descobriu que estava a tocar um concerto para flauta, oboé e fagote em sol menor de Vivaldi. O flautim trinava alegremente, como um passarinho. Aos ouvidos de Aomame, aquela música acentuava a irrealidade da sua realidade presente.
Depois de levantar a mesa, Aomame tomou um duche e vestiu a roupa que semanas antes deixara preparada para esse dia. Tratava-se de uma vestimenta simples, destinada a permitir-lhe ampla liberdade de movimentos. Umas calças de algodão azul-claras, uma blusa branca de manga curta sem qualquer espécie de motivos. Apanhou o cabelo ao alto e prendeu-o com um gancho. Não pôs nenhum acessório. Meteu a roupa que trouxera vestida dentro de um saco preto do lixo, em vez de a deixar ficar no cesto da roupa suja. Tamaru saberia o que fazer com tudo aquilo. Cortou as unhas bem cortadas e lavou os dentes com toda a calma. Deu-se ainda ao trabalho de limpar os ouvidos. Arranjou as sobrancelhas com a pinça, espalhou um pouco de creme no rosto e deitou algumas gotas de água-de-colónia sobre o pescoço. Examinou a sua cara ao espelho, de todos os ângulos possíveis e imaginários, para ter a certeza de que não havia nenhum problema. Só depois disso é que pegou no saco Nike e saiu de casa.
Diante da porta, virou-se pela última vez, consciente de que não voltaria ali. O apartamento pareceu-lhe então mais miserável do que nunca, semelhante a uma prisão que só se podia fechar por dentro. Não havia um único quadro nas paredes, nem um vaso com flores. Apenas deixava ficar uma árvore-da-borracha na varanda, a mesma que comprara a preço da chuva em vez dos peixes-vermelhos. Tornava-se difícil acreditar que pudesse ter vivido naquele lugar durante tantos anos sem sentir qualquer tipo de insatisfação e sem ter dúvidas.
«Adeus», murmurou baixinho Aomame. Não se despedia propriamente do apartamento, mas do seu passado, que deixava para trás.
6
TENGO
Temos braços muito longos
Durante algum tempo, a situação não deu mostras de avançar. Ninguém se pôs em contacto com Tengo. Não recebeu qualquer mensagem da parte de Komatsu, nem do Professor Ebisuno, nem sequer de Fuka-Eri. Se calhar, tinham-se esquecido todos da existência dele e seguido viagem até à Lua. A verificar-se essa hipótese, Tengo não teria qualquer problema. Mas a verdade é que as coisas não se anunciavam assim tão fáceis. Não, eles não tinham ido até à Lua. Simplesmente, deviam andar demasiado ocupados com as suas obrigações quotidianas, e não teriam arranjado tempo nem tido a amabilidade de o pôr ao corrente.
Seguindo o conselho de Komatsu, Tengo procurava manter-se a par da imprensa escrita diária, mas, pelo menos naquele jornal que tinha diante dos seus olhos, não aparecera nenhum artigo acerca de Fuka-Eri. Ainda que dedicasse a máxima atenção aos acontecimentos na ordem do dia, a comunicação social assumia uma posição relativamente passiva quando chegava a hora de dar seguimento às notícias. Por conseguinte, aquele silêncio devia conter uma mensagem implícita e queria dizer que «por agora não está a acontecer nada de importante». Pelo facto de não existir televisão em casa, Tengo ignorava qual o tratamento dado pelos telejornais ao caso em questão.
Quanto às revistas semanais, mencionavam quase todas a história. Tengo não precisara sequer de ler os artigos. Bastara-lhe passar os olhos pelos títulos sensacionalistas que apareciam publicados nos anúncios dos jornais, tipo: «A verdade sobre o misterioso desaparecimento da jovem e bela escritora de um bestseller – onde se encontra Fuka-Eri, autora da obra A Crisálida de Ar?», ou ainda: «O passado “oculto” da bela e jovem romancista em fuga». Alguns dos artigos traziam mesmo fotografias de Fuka-Eri. Tinham sido tiradas durante a conferência de imprensa. Não se podia dizer que Tengo não estivesse interessado em saber o que ali vinha escrito; o que acontecia era que não estava disposto a gastar dinheiro em revistas daquele género. Komatsu logo se encarregaria de o avisar, caso publicassem alguma coisa que Tengo precisasse de saber. O simples facto de, até à data, ninguém se lhe ter dirigido queria dizer que não havia novos desenvolvimentos. Por outras palavras, as pessoas porventura ainda não se haviam dado conta de que A Crisálida de Ar fora produto do trabalho de um escritor-fantasma.
A julgar pelas gordas dos jornais, o interesse dos meios de comunicação focalizava-se na notícia que dava o pai de Fuka-Eri como tendo sido um destacado militante de uma fação extremista, a par de ela ter sido criada numa comuna isolada no meio das montanhas de Yamanashi, sem esquecer a história de o seu atual tutor dar pelo nome de Professor Ebisuno (em tempos, um conhecido intelectual). Ainda que o paradeiro da bela e enigmática romancista permanecesse no segredo dos deuses, A Crisálida de Ar mantinha-se na lista das obras mais vendidas. Por enquanto, aquilo era o suficiente para estimular a atenção do público.
Contudo, a prolongar-se o desaparecimento de Fuka-Eri, seria uma questão de tempo até as investigações jornalísticas começarem a estender-se a um círculo mais alargado. Nesse caso, as coisas poderiam conhecer uma reviravolta e complicar-se. Por exemplo, bastava que alguém se lembrasse de indagar junto da escola onde Fuka-Eri andara a estudar, para o mais provável ser que a dislexia dela fosse notícia e viesse a lume, acrescida da circunstância de quase nunca frequentar as aulas, em virtude das suas dificuldades de aprendizagem. Era possível que também ficassem a ser conhecidas as suas notas em língua japonesa e as suas composições (partindo do princípio de que redigira alguma), o que poderia logicamente dar origem à seguinte pergunta: «Como é que uma jovem disléxica conseguiu redigir uma prosa tão elaborada?» Não era preciso ser um génio para uma pessoa se deitar a adivinhar e formular a hipótese de que ela o conseguira porque havia alguém a dar-lhe uma mãozinha.
As suspeitas recairiam primeiro sobre Komatsu, evidentemente, uma vez que era ele o editor responsável pela obra e, nessa qualidade, tinha-se ocupado de tudo relacionado com a sua publicação. Claro está que Komatsu fingiria não saber nada de nada. Com a sua eterna expressão impassível, alegaria que mais não fizera senão entregar ao comité de seleção o manuscrito recebido das mãos da autora e que desconhecia por completo tudo o que dizia respeito ao processo de criação. Komatsu era perito na arte de dizer o contrário do que pensava sem mudar de expressão, uma espécie de arte consumada que, de resto, todos os editores, em maior ou menor grau, haviam tido oportunidade de aperfeiçoar ao longo da carreira. A seguir, arranjaria logo maneira de meter Tengo ao barulho e, naquele tom de voz teatral que era seu apanágio, dir-lhe-ia qualquer coisa do género: «Ei, Tengo, o cerco começa a apertar-se!» Até parecia que estava a gozar com a situação.
Às vezes, Tengo ficava com a impressão de que o outro tinha prazer em ver-se metido no meio daquelas alhadas. Volta e meia, observava nele um vago desejo de autodestruição. Se calhar, no fundo, o editor desejava que o plano ficasse totalmente exposto aos olhos do mundo, que rebentasse um grande escândalo e que todas as partes envolvidas acabassem a voar pelos ares. No entanto, verdade seja dita que Komatsu também possuía uma forte vertente realista e calculista. Desejos à parte, o mais provável era que ele não passasse nunca para o lado de lá dos limites da tragédia.
Podia ser que Komatsu tivesse um plano de emergência bem engendrado, de modo a sobreviver, acontecesse o que acontecesse. Tengo não sabia como é que o editor pensava safar-se no meio daquele terreno armadilhado. Em todo o caso, o mais certo era Komatsu, com o engenho que lhe era peculiar, tirar partido do que lhe batesse à porta, fosse o escândalo ou a ruína. Tratava-se de uma velha raposa, cheia de manhas; não era a pessoa indicada para falar mal do Professor Ebisuno. Ainda assim, e no que dizia respeito ao romance A Crisálida de Ar, caso alguma nuvem de dúvida surgisse no horizonte, Tengo confiava que Komatsu haveria de chegar à fala com ele. Até ali, Tengo funcionara aos olhos do editor-chefe como uma espécie de ferramenta eficaz, da qual se servia quando lhe dava jeito; ao mesmo tempo, contudo, também se tornara no seu calcanhar de Aquiles. Se Tengo abrisse a boca e desembuchasse tudo o que sabia, o outro ficaria metido numa posição incómoda, daí que Komatsu não pudesse dar-se ao luxo de o ignorar. Por isso, só tinha de esperar o telefonema da ordem. Enquanto não recebesse a chamada, queria dizer que o «cerco ainda não se havia fechado».
Tengo estava mais interessado em saber o que andaria o Professor Ebisuno a fazer. Era evidente que o Professor devia andar a tramar alguma coisa com a polícia, instigando os inspetores a seguirem a pista que dava a Vanguarda como estando implicada no desaparecimento de Fuka-Eri, insinuando-se junto deles e tentando furar a dura carapaça daquela seita religiosa, ao valer-se precisamente desse facto. Agora, agiria a polícia em conformidade com isso? Provavelmente sim. Os meios de comunicação social começavam a fazer barulho à volta da relação entre Fuka-Eri e a Vanguarda. Se a polícia não fizesse a ponta de um corno e mais tarde viesse a apurar-se algum dado valioso seguindo essa linha, seria criticada por ter falhado em cheio. De qualquer maneira, a investigação deveria estar a ser conduzida no maior segredo, o que significava que não era lendo a imprensa escrita semanal nem vendo os serviços informativos na televisão que Tengo ficaria a saber alguma informação nova relevante.
Um dia, ao regressar a casa depois do trabalho na escola onde dava aulas, Tengo encontrou um grosso envelope metido na caixa do correio. O sobrescrito trazia o nome de Komatsu no remetente e o logotipo da editora, bem como o carimbo de correio urgente colado em seis sítios. Já dentro de casa, Tengo abriu a correspondência e viu que se tratava de uma série de fotocópias com as críticas mais recentes ao romance A Crisálida de Ar. Também havia uma carta de Komatsu. Decifrar a letra levou o seu tempo, uma vez que estava escrita na caligrafia ilegível do costume.
Tengo,
Por enquanto, não há grandes novidades a registar. Continuamos a desconhecer o paradeiro da Fuka-Eri. Os semanários e a televisão têm dedicado especial atenção ao seu passado. Por esse lado, estamos safos e podemos dormir descansados. O livro continua a vender-se que nem pãezinhos quentes. Confesso que, no ponto em que nos encontramos, torna-se difícil equacionar a questão e saber se nos devemos congratular, mas a verdade é que na editora está toda a gente muito satisfeita e, pela parte que me toca, até me deram um diploma de mérito e um bónus de produtividade em dinheiro. Há mais de vinte anos que trabalho para a empresa e é a primeira vez que recebo um louvor por parte do diretor. Estou deserto para ver a cara daqueles tipos quando descobrirem a verdade!
Junto a esta missiva cópia das recensões e dos artigos publicados até à data. Se tiveres tempo livre, aproveita e passa os olhos por esse material. Creio que alguns desses textos terão interesse para ti, e outros há que por certo te farão rir, se estiveres para aí virado.
A propósito da Nova Associação para o Desenvolvimento das Ciências e das Artes do Japão, de que falámos no outro dia, encarreguei uma pessoa minha conhecida de fazer uma pequena investigação. Foi fundada há meia dúzia de anos, funciona com licença oficial e está em atividade. Para além de ter uma sede, apresenta relatórios de contas regularmente. Todos os anos escolhem vários investigadores, a quem oferecem uma bolsa – pelo menos, é isso que afirmam os responsáveis pela instituição. A minha fonte não soube dizer-me de onde vem o dinheiro, e vai ao ponto de afirmar que tudo aquilo lhe cheira a esturro. Também pode tratar-se de uma organização-fantasma, criada com o fito de escapar aos impostos sem incorrer no crime de evasão fiscal. Uma investigação aprofundada poderia fornecer mais informações, mas não dispomos de tempo nem de meios. Seja como for, e como te disse no outro dia ao telefone, a história de eles estarem dispostos a oferecer três milhões de ienes a uma pessoa como tu, que és um completo desconhecido, não me convence. De certeza que aí há gato. Não se pode descartar a hipótese de a Vanguarda estar metida ao barulho. Se assim fosse, significaria que lhes cheira que tu colaboraste na criação do romance A Crisálida de Ar. Em todo o caso, o mais prudente é não teres nada que te ligue a essa organização.
Tengo guardou a carta de Komatsu dentro do envelope. Porque se daria o outro ao trabalho de lhe enviar aquelas linhas? Se calhar, aproveitara para lhe escrever, já que tratara de enviar as críticas, mas nem parecia dele. Se bem o conhecia, teria pegado no telefone para conversarem os dois, como sempre fazia. Uma carta daquele teor poderia servir como prova, no futuro. Alguém cauteloso como Komatsu por certo não deixaria de considerar a questão por esse ângulo. Ou então, quem sabe?, talvez uma prova escrita fosse menos preocupante, aos olhos do editor, do que saber-se sob escuta telefónica.
Tengo olhou para o seu aparelho. Escutas telefónicas? Nunca lhe passara pela cabeça que pudessem escutar as suas conversas ao telefone. Contudo, pensando bem, ninguém lhe telefonara na última semana. O facto de o seu telefone ter sido colocado sob escuta seria do conhecimento público? Até a sua namorada mais velha, que adorava falar com ele ao telefone, não dera notícias. Não deixava de ser estranho.
E a história não ficava por aí, em matéria de coincidências bizarras. Na sexta-feira anterior, ela não aparecera lá em casa. Nunca tal coisa tinha acontecido. Quando havia algum impedimento, telefonava sempre a avisar com a devida antecedência. Regra geral, uma das filhas ficara em casa, constipada, ou viera-lhe o período de repente. No entanto, nessa sexta-feira, pura e simplesmente não se dignara aparecer nem avisara. Tengo preparara um almoço ligeiro e tinha esperado por ela, mas ficara a ver navios. Mesmo que a amante se tivesse deparado com alguma emergência, não era normal que não o tivesse avisado, nem antes nem depois. Contudo, a situação não lhe permitia ser ele a telefonar.
Tengo deixou de pensar na amante e na questão do telefone, sentou-se à mesa da cozinha e começou a ler as fotocópias das críticas, uma a uma. Tinham sido organizadas por ordem cronológica e na margem superior esquerda vinha anotado a esferográfica o nome do jornal ou da revista, bem como a data da publicação. De certeza que devia ter sido alguma estagiária a tempo parcial a encarregar-se da tarefa: Komatsu nunca se daria a semelhante trabalheira. As recensões eram, na sua maioria, positivas. Muitos críticos apreciavam a profundidade e a audácia da história, ao mesmo tempo que reconheciam a precisão do estilo. Alguns tinham escrito que parecia «incrível» que a obra pudesse ter sido escrita por uma rapariga de dezassete anos.
Intuição não lhes falta, pensou Tengo de si para si.
«Uma Françoise Sagan que absorveu o espírito do realismo mágico», podia ler-se num dos artigos, que apontava algumas reservas um tanto vagas ao romance, sem deixar, no entanto, de elogiar a atmosfera do livro no seu todo.
Todavia, o que mais deixava os críticos perplexos – para não dizer desorientados – era o significado da crisálida de ar e do Povo Pequeno. Um deles concluía assim a sua recensão: «A história em si é extraordinariamente interessante e prende a atenção do leitor até ao fim, mas, quando colocamos a nós mesmos a pergunta: “O que é a crisálida de ar e quem são as pessoas que formam o Povo Pequeno?”, ficamos mergulhados num mar de interrogações. Talvez fosse essa a intenção da autora; todavia, é possível que muitos leitores interpretem esta atitude como um sinal de “preguiça de escritor”. Mesmo considerando que este livro tem a minha aprovação, enquanto primeira obra, a autora deverá ter isto em atenção e repensar seriamente, num futuro próximo, a sua tendência para criar sugestões, caso tencione continuar a escrever.»
Ao ler aquilo, Tengo inclinou a cabeça, num gesto que traduzia bem a sua estranheza. Se um escritor conseguia dar vida a «uma história extraordinariamente interessante», capaz de «prender a atenção do leitor até ao fim», não deveria ser acusado de preguiça.
Para dizer a verdade, Tengo não tinha grandes certezas. Se calhar, a sua maneira de pensar estava errada e o reparo do crítico fazia sentido. Mergulhara literalmente na reescrita da obra, a tal ponto que lhe era quase impossível analisá-la de forma objetiva, com o olhar de alguém que está de fora. Nesse momento, Tengo via a crisálida de ar e o Povo Pequeno como se fizessem parte integrante dele. Mesmo que não soubesse, muito honestamente, qual o seu verdadeiro significado, isso pouca importância tinha. O fundamental era saber se ele podia aceitá-los como reais. E, de facto, Tengo acreditava com todo o coração na sua existência. Precisamente por isso, fora capaz de se entregar de corpo e alma à tarefa de corrigir A Crisálida de Ar. Se a obra não se lhe impusesse como uma evidência, nunca teria alinhado no esquema com contornos fraudulentos, por mais dinheiro que lhe houvessem oferecido ou mesmo que o tivessem ameaçado.
Todavia, aquilo não deixava de ser a sua leitura pessoal da coisa. Longe dele impô-la aos outros. Ao mesmo tempo, não podia deixar de partilhar uma certa simpatia com todos aqueles corajosos leitores, entre homens e mulheres, que ficavam «mergulhados num mar de interrogações» após a leitura da obra. Pôs-se a imaginar a cena, visualizando uma quantidade de pessoas, equipadas com boias de todas as cores, à deriva num enorme mar de dúvidas. No céu brilhava um Sol irreal que não dava tréguas. Na qualidade de alguém que tinha contribuído para a divulgação desse estado de coisas junto do público, Tengo sentia uma certa quota-parte de responsabilidade.
Mas quem poderá salvar toda a Humanidade?, pensava Tengo. Porque a verdade é que, mesmo reunindo todos os deuses do mundo num lugar, isso não levaria à supressão das armas nucleares nem à erradicação do terrorismo. Da mesma forma que não foram capazes de acabar com a seca em África nem de ressuscitar John Lennon. Bem pelo contrário, o mais certo era os diversos deuses porem fim às suas amizades e desatarem a lutar, envolvendo-se em disputas violentas. E então o mundo tornar-se-ia possivelmente num lugar muito mais caótico. Considerando o sentimento de impotência desencadeado pela situação, acaso não seria um pecado menor o facto de deixar as pessoas flutuar num mar de interrogações?
Tengo leu metade das críticas que Komatsu lhe tinha enviado e guardou o resto dentro do envelope. Apesar de ter lido apenas uma parte das recensões, fazia uma ideia aproximada do que estaria escrito nas outras. Enquanto narrativa, A Crisálida de Ar captara a atenção de muita gente. Fascinara Tengo e Komatsu, atraíra o Professor Ebisuno e um número impressionante de leitores. Que mais seria preciso?
Passava pouco das nove quando o telefone tocou, isto numa terça-feira à noite. Tengo estava a ouvir música e a ler um livro. Era a sua hora preferida do dia. O momento em que lia até lhe apetecer, antes de dormir. Quando se cansava, punha o livro de lado e caía nos braços de Morfeu.
No timbre do telefone, que não ouvia tocar há bastante tempo, pressentiu qualquer coisa de funesto. Não era Komatsu quem telefonava. Quando o editor ligava, o telefone soava de maneira diferente. Tengo hesitou por momentos, sem saber se havia de atender. Deixou tocar cinco vezes. Só então levantou a agulha do disco e atendeu. Podia ser a sua amante.
– É da casa do senhor Kawana? – perguntou um homem que devia andar pela meia-idade. Tinha uma voz suave e profunda, que não lhe era familiar.
– Sim – respondeu Tengo, a jogar à defesa.
– Desculpe ligar a esta hora. Chamo-me Yasuda – disse o homem num tom de voz neutro. Nem amigável, nem hostil.
Yasuda? O nome era bastante vulgar, mas não se lembrava de nenhum Yasuda.
– Telefono para lhe comunicar uma coisa – disse o outro. Fez então uma breve pausa, como se introduzisse um marcador no meio das páginas de um livro. – A minha esposa não vai poder continuar a visitá-lo em sua casa. Era o que eu tinha para lhe dizer.
Yasuda! De repente, Tengo deu-se conta de que o apelido da namorada mais velha era esse mesmo. Kyoko Yasuda, assim se chamava ela. Demorara aquele tempo todo a recordar-se porque ela quase nunca pronunciava o nome quando estavam juntos. O homem ao telefone era o marido. Tengo sentiu formar-se uma espécie de nó na garganta.
– Expliquei-me bem? – perguntou o homem. A sua voz era desprovida de sentimentos, ou pelo menos assim parecia a Tengo. Notava-se apenas um ligeiro sotaque na entoação. Talvez fosse oriundo de Hiroxima ou de Kyushu. Tengo não sabia ao certo, uma vez que não as conseguia distinguir.
– Não pode vir – repetiu Tengo.
– Sim, está impossibilitada de o visitar.
Tengo encheu-se de coragem e perguntou:
– Aconteceu-lhe alguma coisa?
Fez-se silêncio. A pergunta formulada por Tengo permaneceu suspensa no ar, sem obter resposta. Em seguida, o homem voltou à carga.
– Por conseguinte, temo bem que nunca mais volte a ver a minha mulher. Era só isto que lhe queria dizer.
Aquele homem sabia que Tengo andava a dormir com a mulher. Que os dois tinham relações sexuais desde há um ano e que se encontravam uma vez por semana. Tengo percebeu isso. No entanto, por estranho que parecesse, a voz do outro não deixava transparecer ódio nem rancor. Continha uma coisa de outra natureza – mais do que um sentimento pessoal, parecia uma imagem objetiva. A imagem de um jardim em ruínas e ao abandono; outro exemplo: o leito de um rio após grandes enchentes.
– Não compreendo muito bem...
– É melhor esquecer o assunto – disse o homem, cortando-lhe a palavra. Na sua voz sentia-se uma nota de cansaço. – Que fique bem claro o seguinte: a minha mulher perdeu-se irremediavelmente e não poderá voltar a visitá-lo, dê lá por onde der. É o que tenho a dizer.
– Perdeu-se irremediavelmente – murmurou Tengo, confuso.
– Senhor Kawana, acredite que eu preferia não ser obrigado a fazer esta chamada, mas, se deixasse as coisas como elas estão e me calasse, não iria conseguir ficar de consciência tranquila. Acha que me dá prazer ter esta conversa consigo?
Quando o homem acabou de falar, não se ouviu nenhum ruído do outro lado. Dir-se-ia que estava a telefonar de um lugar incrivelmente silencioso. Ou talvez as emoções do outro funcionassem como um vazio absoluto e, como tal, absorvessem todas as ondas sonoras na vizinhança.
Tenho de lhe fazer uma ou duas perguntas, pensou Tengo. De outro modo, tudo aquilo acabaria por não passar de um repositório de alusões absurdas. Não podia permitir que a conversa morresse ali! O pior era que aquele homem não tinha intenção de entrar em pormenores. Que diabo poderia alguém na situação de Tengo perguntar, sabendo que a outra pessoa não estava na disposição de contar a verdade? Que palavras proferir diante do vazio? Enquanto Tengo se esforçava desesperadamente por encontrar as palavras certas, a ligação foi à vida. O homem desligara sem dizer nada e desaparecera da vida de Tengo. Talvez para sempre.
Tengo ficou com a orelha colada ao auscultador durante algum tempo. Podia ser que notasse, caso houvesse alguém à escuta. Susteve a respiração e apurou o ouvido, mas não logrou captar nenhum som suspeito. Tudo o que escutava era o bater do seu coração. Quanto mais ouvia as suas próprias palpitações, mais tinha a sensação de se ter transformado num mísero ladrão, entrando à socapa na casa de outra pessoa, a coberto da noite: escondia-se nas sombras, retinha o fôlego e esperava até que os seus ocupantes estivessem a dormir.
Para se acalmar, Tengo pôs uma chaleira com água ao lume e preparou um chá verde. Depois sentou-se à mesa da cozinha com uma taça de chá e procurou reconstituir mentalmente a conversa que acabara de ter ao telefone.
«A minha esposa está irremediavelmente perdida e não poderá voltar a visitá-lo, dê lá por onde der. É o que tenho a dizer.» Dê lá por onde der: aquela expressão era o que mais perplexidade causava a Tengo. Fizera-o sentir-se no meio de um pântano escuro e viscoso.
O que aquele homem chamado Yasuda quisera transmitir a Tengo era que, mesmo que a mulher quisesse alguma vez ir ter com ele lá a casa, isso seria de todo impossível. Quais seriam as circunstâncias que o impediriam, na prática? Que teria o outro querido dizer com aquela história de ela estar perdida? Tengo imaginou Kyoko Yasuda gravemente ferida num acidente, padecendo de uma doença incurável ou com o rosto desfigurado, vítima de violência. Encontrava-se confinada a uma cadeira de rodas, perdera um dos membros ou tinha o corpo coberto de ligaduras, ao ponto de não se conseguir mexer. Também a viu, na sua efabulação, feita prisioneira numa cave, porventura atada com uma grossa corrente, como se fosse uma cadela. Escusado será dizer que todas as hipóteses pecavam por ser demasiado fantasiosas.
Kyo¯oko Yasuda (a partir daí, Tengo começara a evocá-la sempre pelo nome completo) quase nunca lhe falara do marido. Tengo ignorava tudo acerca da sua profissão, não fazia ideia da idade nem do aspeto que tinha, desconhecia os traços da personalidade dele, onde se haviam conhecido, quando casaram, se era magro ou gordo, alto ou baixo, bonito ou feio, se mantinham uma boa relação conjugal. Tudo o que Tengo sabia era que ela não tinha grandes problemas económicos (a bem dizer, levava uma vida bastante desafogada) e que parecia não andar lá muito satisfeita com a frequência (ou com a qualidade) das relações sexuais com o marido. Claro que tudo isto no mero campo das hipóteses. Tengo e ela tinham passado muitas tardes na cama, a falar de tudo e de mais alguma coisa, mas o tema do marido nunca calhava em conversa. Além de que Tengo nunca sentira a mínima curiosidade em saber coisas acerca dele. Preferia manter-se na ignorância, no que tocava ao homem cuja mulher ele andava a roubar. Sempre era mais decente. Naquele momento, atendendo às circunstâncias, arrependia-se de jamais ter feito perguntas acerca do marido (de certeza que, se lhe tivesse perguntado, ela teria respondido sinceramente). Seria um homem ciumento ou possessivo? Teria queda para a violência?
Procurou colocar-se no lugar do outro. Como se sentiria, caso estivesse na posição dele? «Imagina que és casado, duas filhas pequenas, e levas uma vida familiar normal, pacata, mas que descobres que a tua mulher anda a dormir com outro homem e que vai com ele para a cama uma vez por semana, homem esse que tem menos dez anos. Acresce que a relação dura há mais de um ano.» Analisando a questão do seu ponto de vista, como reagiria? Que sentimentos tomariam conta dele? Uma raiva intensa? Desespero profundo? Uma imensa tristeza? Ou o frio desprezo? A noção de ter perdido o sentido da realidade? Ou uma amálgama de emoções difíceis de discernir?
Por mais voltas que desse à cabeça, não havia maneira de saber que sentimentos o moveriam nessas circunstâncias. Enquanto especulava sobre tudo aquilo, veio-lhe à memória a imagem da mãe, vestida com a combinação branca, a oferecer o peito a um jovem desconhecido. Tinha seios opulentos e grandes mamilos rijos. Ao seu lado, Tengo dormia. O destino parece ter descrito um círculo completo, pensou Tengo. Aquele misterioso jovem era ele mesmo, e a mulher nos seus braços era Kyo¯oko Yasuda. Tratava-se da mesma encenação; apenas as personagens tinham mudado.
E se a minha vida não for mais do que um processo de materialização, através do qual eu dou forma a imagens latentes que vivem adormecidas dentro de mim? Assim sendo, até que ponto serei responsável pelo facto de a Kyo¯oko se ter perdido para sempre?
* * *
Tengo não foi capaz de voltar a adormecer. Nos seus ouvidos continuava a ressoar a voz do marido, esse homem que respondia pelo nome de Yasuda. A insinuação por ele feita tinha um grande peso e as suas palavras estavam imbuídas de um estranho realismo. Tengo pensou em Kyo¯oko Yasuda. Visualizou o seu rosto e percorreu o corpo dela ao pormenor, na sua imaginação. A última vez que se tinham visto fora numa sexta-feira, duas semanas antes. Como sempre, passaram o tempo a fazer amor. Porém, depois da chamada do marido dela, dava-lhe a impressão de que tudo aquilo acontecera num passado longínquo. A cena adquirira contornos de um episódio histórico.
Na estante reservada aos discos havia vários LP levados por ela para os dois escutarem juntos na cama. Eram única e exclusivamente discos de jazz antigos: Louis Armstrong, Billie Holiday (esse disco, em particular, contava com a participação de Barney Bigard) e o Duke Ellington dos anos quarenta. Todos eles tinham sido ouvidos vezes sem conta, mas encontravam-se em muito bom estado. Se bem que as capas já tivessem perdido um bocadinho a cor com a passagem do tempo, os discos em si mesmos pareciam acabados de comprar. Tengo foi buscar os de trinta e três rotações e, ao olhar para as capas, uma após a outra, sentiu crescer nele a certeza de que nunca mais a tornaria a ver.
A bem dizer, Tengo não amava Kyo¯oko Yasuda, no sentido rigoroso do termo. Nunca tivera o desejo de partilhar a sua vida com ela, tão-pouco lhe custava ficar sozinho na hora da despedida. Nunca sentira um forte estremecimento no coração por ela. Mas estava acostumado à presença daquela mulher mais velha e nutria uma ternura genuína por ela. Haviam combinado um dia por semana, em que se encontravam no seu apartamento e faziam amor, e ele aguardava sempre esse momento com grande ansiedade. Para Tengo, que nunca desenvolvera esse género de intimidade com outras mulheres, tratava-se de uma experiência rara. Na maioria das vezes, mantivesse ou não relações sexuais com elas, as mulheres deixavam-no pouco à vontade. E ele era obrigado a encerrar-se numa espécie de território interior, a fim de controlar esse mal-estar. Por outras palavras, tinha de manter certos compartimentos do seu coração hermeticamente fechados. Porém, quando estava na companhia de Kyo¯oko Yasuda, não precisava de proceder a nenhuma operação complexa. Era como se ela compreendesse o que ele desejava e o que não desejava. Por isso, Tengo considerava-se um homem de sorte por tê-la encontrado.
Mas tinha acontecido alguma coisa e ela perdera-se pelo caminho. Por uma razão qualquer, não voltaria a ir ter com ele, desse lá por onde desse. Além do mais, ainda segundo o marido, era melhor que Tengo ficasse sem saber a razão que levara a tal, bem como as consequências que havia desencadeado.
Incapaz de adormecer, Tengo estava sentado no chão, a escutar baixinho um disco de Duke Ellington, quando o telefone tocou de novo. O relógio de parede marcava dez horas e doze minutos. Tirando Komatsu, não estava a ver quem se lembraria de lhe telefonar a uma hora daquelas. Contudo, pelo toque, não parecia ele. As chamadas de Komatsu soavam de forma mais apressada e impaciente. Se calhar, o tal Yasuda esquecera-se de lhe transmitir alguma mensagem. Quem lhe dera não ter de responder. Dizia-lhe a sua experiência que uma chamada àquela hora da noite nunca podia ser coisa boa. Considerando a situação em que se encontrava, não lhe restava outra alternativa senão atender.
– Senhor Kawana? – perguntou um homem. Não era Komatsu. Também não era Yasuda. Aquela voz pertencia, sem sombra de dúvida, a Ushikawa. Falava como se tivesse a boca cheia de água (ou de um líquido indefinido). Automaticamente, o estranho rosto do outro e a sua cabeça, chata e disforme, vieram à mente de Tengo. – Hum... lamento incomodá-lo a estas horas. É Ushikawa quem fala. Fui ter consigo no outro dia, sem avisar, e roubei uns minutos do seu precioso tempo. Gostaria de ter conseguido ligar mais cedo, hoje, mas apareceu um assunto urgente e, quando olhei para o relógio e me dei conta das horas, já era muito tarde. Acredite, sei perfeitamente que o senhor é daqueles que se deitam cedo e se levantam com as galinhas, coisa que, de resto, me parece admirável. Uma pessoa deitar-se tarde e levantar-se às tantas, arriscando-se a desperdiçar o tempo, não é aconselhável. O melhor é meter-se na cama o mais cedo possível, de preferência assim que fica escuro, e despertar de manhãzinha, com os primeiros raios de sol. Bom... não sei se lhe poderemos chamar intuição, senhor Kawana, mas a verdade é que me palpitou que esta noite ainda o iria encontrar a pé. Mesmo sabendo que poderia ser considerada uma falta de educação da minha parte, decidi arriscar e ligar para si. Apanhei-o em má altura?
Tengo não gostou nem um bocadinho do que Ushikawa acabara de dizer. Sobretudo, desagradou-lhe o facto de o outro ter o número de telefone de sua casa. Além de que a intuição não era para ali chamada. Se telefonara, era por saber perfeitamente que Tengo àquela hora estava acordado, sem conseguir conciliar o sono. Se calhar, vira as luzes do quarto acesas. O apartamento andaria a ser vigiado?
– Sim, de facto, esta noite ainda estou a pé – disse Tengo. – A sua «intuição» estava certa. Devo ter bebido uma dose de chá verde demasiado forte.
– Ah, sim? Isso é que é pior, senhor Kawana! Costuma ser nas noites de insónia que nos passam pela cabeça os pensamentos mais disparatados. Que tal conversarmos um pouco?
– Desde que o assunto não contribua para me tirar ainda mais o sono...
Ushikawa soltou uma estranha e sonora gargalhada. Do outro lado do aparelho – algures neste mundo –, a sua cabeça ovalada moveu-se desajeitadamente.
– Ah, ah, ah! Que divertido. O senhor é muito espirituoso, Kawana. Reconheço que o tema não seja tão agradável como uma história de encantar, mas não se pode dizer que a seriedade da questão chegue para lhe tirar o sono. Esteja tranquilo. Terá apenas de me responder «sim» ou «não». Trata-se... bom... daquela história da bolsa, de que falámos antes. A bolsa no valor de três milhões de ienes por ano, está lembrado? Não é um mau negócio. Estudou bem a proposta? Pergunto isto porque precisamos de conhecer a sua resposta definitiva.
– Creio que já deixei claro isso da outra vez que nos encontrámos, ao dizer que recusava. Agradeço a proposta, mas não tenho necessidade de nada, nos tempos que correm. Do ponto de vista económico, levo uma existência desafogada e, se possível, gostaria de continuar a viver a minha vida a este ritmo.
– Sem dever nada a ninguém, é o que pretende dizer.
– Basicamente, é isso.
– Confesso que acho a atitude muito louvável da sua parte, senhor Kawana! – admitiu Ushikawa, aproveitando para aclarar a voz. – Deseja viver por sua conta e risco e ter o menos possível que ver com o sistema. Compreendo como se sente. No entanto, senhor Kawana, permita-me que chame a sua atenção para o facto de viver neste mundo. Uma pessoa nunca sabe o que pode acontecer. Logo, todas as garantias são poucas. Precisamos de algo em que nos possamos apoiar, que nos proteja contra o vento. Ainda que me custe muito dizer-lhe isto, o senhor não tem onde se agarrar, no momento presente. Nenhuma das pessoas que o rodeiam me parece de confiança, capaz de lhe oferecer proteção. No caso de a situação piorar e os ventos começarem a soprar com violência, toda a gente o abandonaria, quase aposto, e encontrar-se-ia sozinho. Tenho ou não tenho razão? A acreditar no provérbio, um homem prevenido vale por dois. Não me venha dizer que não é importante tomar as suas precauções para quando surgir qualquer imprevisto! E não estamos aqui a falar apenas de dinheiro. Em última análise, o dinheiro tem apenas um valor simbólico.
– Estou com uma certa dificuldade para entender o que me diz – confessou Tengo. O desagrado instintivo que sentira da primeira vez que tinha encontrado Ushikawa voltava a apoderar-se dele.
– Homem, claro que não. Você ainda é novo e saudável, não admira que não entenda estas coisas. Deixe-me dar-lhe um exemplo. A partir de uma certa idade, a vida transforma-se num processo ininterrupto de perda. Tudo aquilo que é importante na vida começa a escapar-nos da mão, vai caindo como os dentes de um pente. E o que fica no seu lugar são apenas imitações sem qualquer importância. As capacidades físicas, as esperanças, os sonhos e os ideais, as certezas e as pessoas amadas, todas essas coisas vão desaparecendo, até não restar nenhuma. Algumas anunciam a sua partida, ao passo que outras se dissipam, um belo dia, de repente, sem aviso prévio. E uma vez desaparecidas do mapa, torna-se impossível recuperá-las, da mesma forma que não é possível encontrar nada que as substitua. A coisa revela-se bastante penosa; pode mesmo resultar num desgosto lancinante. Ora, estando quase a fazer trinta anos, senhor Kawana, isso significa que, a partir de agora, entrará, a pouco e pouco, no chamado crepúsculo da vida. Que é como quem diz, irá começar a envelhecer. Calculo, de resto, que já tenha conhecido a dolorosa sensação de perder alguma coisa. Engano-me?
Estaria a fazer alusão a Kyo¯oko Yasuda? Bem que Tengo gostaria de saber. Se calhar, o homem estava a par dos encontros secretos que os dois mantinham, uma vez por semana, e da razão pela qual ela o abandonara, por aqueles dias.
– Parece estar muito bem informado sobre a minha vida pessoal – observou Tengo.
– Nada que se pareça – negou Ushikawa. – Acontece que me refiro à vida em geral. Acredite, é a pura verdade. Sei muito pouco acerca da sua vida privada.
Tengo permaneceu calado.
– Por favor, senhor Kawana – insistiu Ushikawa, soltando um suspiro –, tenha a amabilidade de aceitar a bolsa. Para ser franco, encontra-se numa situação delicada. Acontecendo alguma coisa, estaríamos cá nós para o proteger. Sempre podemos lançar-lhe uma boia. Se as coisas continuarem da forma que estão, pode muito bem ver-se metido num beco sem saída.
– Um beco sem saída – repetiu Tengo.
– Pode crer.
– A que se refere, em concreto?
Ushikawa fez uma breve pausa, antes de prosseguir:
– Deixe lá, senhor Kawana. Há coisas que é melhor não saber. Certas informações tiram o sono a uma pessoa. E não me refiro ao chá verde. Se calhar, iam impedi-lo de dormir tranquilamente para sempre. Bom, em resumo... era isto que eu tinha para lhe dizer. Pense no seguinte: sem saber, abriu uma torneira especial, e parece que de lá de dentro saiu uma coisa especial, que exerceu um determinado efeito nas pessoas à sua volta. Um efeito nada agradável, diga-se de passagem.
– O Povo Pequeno tem alguma coisa que ver com isto?
Tratou-se de um tiro no escuro, mas o certo é que Ushikawa pareceu acusar o golpe e permaneceu mudo e quedo. O silêncio que se instalou era pesado, como uma pedra negra no fundo das águas profundas.
– Senhor Kawana, vai desculpar-me, mas gostaria que me dissesse a verdade. Deixemo-nos de adivinhas e vamos lá falar das coisas como elas são, em concreto.
– Que foi que lhe aconteceu a ela?
– A ela? Não sei de que fala.
Tengo deixou escapar um suspiro. Era um tema demasiado delicado para discutir ao telefone.
– Desculpe, senhor Kawana, mas eu não passo de um moço de recados. Um mensageiro enviado da parte do meu cliente. Por agora, o papel que me foi confiado é o de abordar, da maneira mais indireta possível, vários princípios fundamentais – afirmou Ushikawa num tom circunspecto. – Lamento muito se isto contribui para aumentar a sua impaciência, mas é algo a que só posso referir-me em termos vagos. Além disso, convenhamos, os meus conhecimentos sobre a matéria são bastante limitados. Seja como for, confesso que não sei a quem se refere quando diz «ela». Poderia ser um pouco mais específico?
– Muito bem, nesse caso, quem é o Povo Pequeno?
– Lá voltamos nós ao mesmo, senhor Kawana. Não faço a mínima ideia de quem possa ser esse tal Povo Pequeno, ou lá como se chama. A única coisa que sei é que aparece no romance A Crisálida de Ar, claro. Deixe-me que lhe diga, no entanto, que, a julgar pelo rumo da nossa conversa, o meu amigo libertou qualquer coisa que agora circula pelo mundo sem sequer conhecer a sua verdadeira dimensão. Em contrapartida, o meu cliente sabe bem como isso é perigoso, e de que maneira. Por outro lado, possui também conhecimentos que lhe permitem enfrentar esse perigo. Daí que estejamos dispostos a estender a mão e a oferecer-lhe a nossa ajuda. Para falar com toda a franqueza, temos braços muitos longos. Longos e poderosos.
– Quem é esse «cliente» de que passa o tempo a falar? Tem alguma ligação à Vanguarda?
– Infelizmente, isso... Não estou autorizado a revelar nomes – disse Ushikawa com uma certa mágoa. – Posso afiançar, seja como for, que o meu cliente é bastante influente. Digamos que o seu poder... considerável, volto a frisar... deve ser levado em conta. Estamos em condições de o proteger. Escute, senhor Kawana, esta é a nossa última oferta. Tem toda a liberdade para aceitar ou rejeitar o que lhe propomos. Uma vez tomada a decisão, contudo, não poderá voltar atrás. Por isso, peço-lhe que medite muito bem no que vai fazer. Permita-me ainda que lhe diga o seguinte: caso escolha não ficar do lado deles, pode acontecer, para mal dos seus pecados, que os longos braços de que eu falava se estendam até si e lhe tragam consequências indesejáveis, ainda que isso não seja intencional.
– Que tipo de «consequências indesejáveis»?
Ushikawa demorou a responder à pergunta formulada por Tengo. Do outro lado da linha, produziu um barulhinho, como se estivesse a sorver a saliva dos lábios.
– Desconheço os pormenores – retorquiu Ushikawa. – Correndo o risco de me repetir, volto a dizer que não passo de um intermediário nas negociações. Os dados que possuo são parciais. Quando a copiosa fonte de informação chega até mim, já só sobram algumas gotas. O cliente concedeu-me uma certa autoridade, e eu limito-me a transmitir-lhe o que ele me indicou. Talvez pergunte a si próprio por que razão o cliente não terá entrado em contacto consigo diretamente, o que por certo aceleraria todo o processo, e porque se lembrou de escolher alguém tão inepto como eu para fazer as vezes de mensageiro. Sim, porquê? Confesso que também não sei responder a essa pergunta.
Ushikawa aclarou a garganta e ficou à espera de que Tengo perguntasse qualquer coisa. Como não surgiu nenhuma pergunta, continuou com o que estava a dizer:
– Perguntava-me há pouco o que terá soltado, não é verdade?
Tengo fez que sim com a cabeça.
– Na minha opinião, senhor Kawana, não se trata de uma coisa a que possamos dar uma resposta assim do pé para a mão, do estilo: «Sim, é isso mesmo.» Calculo que o senhor terá de se pôr em campo para descobrir a resposta, com o suor do seu esforço. Porém, quando conseguir por fim compreender o que se passa e atinar com a resposta, quem sabe?, será demasiado tarde. Pelo que tenho visto, o meu amigo é dono de um talento muito especial: um talento superior e notável, que a maioria das pessoas não possui. Disso não tenho a menor dúvida. Como tal, não podemos desdenhar a sua influência em toda esta questão. Daí que lhe tenhamos oferecido a bolsa. Infelizmente, o talento não é tudo. E, pensando bem, possuir uma capacidade extraordinária mas insuficiente pode revelar-se mais perigoso do que não ter nada. É esta a minha modesta impressão, no que respeita ao assunto em particular.
– Por outro lado, o seu cliente encontra-se na posse de conhecimentos e qualidades suficientes. Tenho razão?
– Bom, sobre isso não me posso pronunciar. Quer dizer, ninguém pode afirmar se são «suficientes» ou não. Vejamos, talvez se possa considerá-los como uma espécie de nova doença contagiosa. Eles possuem os conhecimentos, assim como a vacina. No presente, sabe-se que demonstraram inclusivamente uma certa eficácia. Todavia, os agentes patogénicos estão vivos: fortalecem-se a cada instante e evoluem. Estamos a falar de tipos duros e inteligentes. Mais: esforçam-se por superar a capacidade dos anticorpos. Até quando a vacina será eficaz? Não se sabe. Da mesma forma que se ignora se a quantidade de vacinas armazenadas será suficiente ou não. É isso que faz aumentar a sensação de perigo iminente e leva o cliente a enviar sinais de alarme.
– Porque é que têm necessidade de mim?
– Se é que posso utilizar a metáfora da epidemia e das doenças contagiosas, e com o devido respeito, vocês provavelmente desempenham o papel de principais portadores da doença.
– Vocês? – disse Tengo. – Refere-se a Eriko Fukada e a mim?
Ushikawa não respondeu à pergunta.
– Hum... Para utilizar uma expressão clássica, pode dizer-se que abriram a caixa de Pandora. Lá de dentro saíram várias coisas que se espalharam pelo mundo. Pelo menos, parece ser isso o que os meus clientes pensam, baseado na impressão com que fiquei. Os dois, apesar de se terem encontrado por acaso, formam uma combinação bem mais poderosa do que possa pensar. Cada um conseguiu complementar de forma eficaz a parte que faltava ao outro.
– Mas, do ponto de vista legal, isso não é nenhum delito.
– Claro que não. Nem em termos jurídicos nem num sentido mais terra a terra, não é crime nenhum. Se me permite que cite um clássico de George Orwell... não apenas uma grande obra de ficção mas também uma magnífica fonte de citações... assemelha-se ao conceito de «pensarcrime»5. Por uma estranha coincidência, acontece que estamos no ano de 1984. Será um capricho do destino? Bom, senhor Kawana, parece-me que, esta noite, já falei demasiado, além de que as coisas que lhe disse não são mais do que meras suposições pessoais, porventura mal-enjorcadas, tudo pura especulação, se quiser, sem qualquer base de fundamentação. Perguntou-me e eu dei-lhe a conhecer as minhas próprias impressões sobre a matéria, de uma forma geral.
Ushikawa ficou em silêncio, enquanto Tengo meditava.
«Meras suposições pessoais»? Até que ponto posso acreditar no que este homem diz?
– Agora vou ter de desligar – anunciou Ushikawa. – Como se trata de um assunto importante, estamos dispostos a dar-lhe um pouco mais de tempo, mas não podemos correr o risco de deixar o assunto arrastar-se. O relógio está sempre a trabalhar. Tic-tac, tic-tac. Não dá tréguas. Por obséquio, queira avaliar com calma a nossa proposta, uma vez mais. Voltarei a entrar em contacto consigo. Então, muito boa noite. Fico contente por termos podido conversar. Eu... espero que durma bem, senhor Kawana.
Depois de ter debitado aquele monólogo, Ushikawa desligou o telefone com firmeza. Tengo ficou sentado, com o auscultador na mão, à imagem e semelhança de um camponês que contempla um legume ressequido e murcho acabado de apanhar em plena época de seca. Nos últimos tempos, havia uma série de pessoas que punham fim às conversas que mantinham com ele sem dizer água-vai.
Tal como seria de esperar, não conseguiu pregar olho nessa noite. Até a luz pálida da manhã começar a tingir as cortinas e os afanosos corvos da cidade darem sinais de que estava na hora de despertar e iniciar um novo dia de trabalho, Tengo permaneceu sentado no chão, encostado à parede, a pensar na namorada mais velha e nos longos e poderosos braços que se estendiam na direção dele. Porém, os seus pensamentos não o levaram a parte nenhuma. As suas ideias limitavam-se a girar sem rumo definido, em torno do mesmo ponto.
Depois de olhar em volta, Tengo soltou um suspiro e deu-se conta de que estava completamente sozinho. Ushikawa tinha razão. Não havia nada nem ninguém em que ele se pudesse apoiar.
5 Thought crime, no original de George Orwell. Seguimos a tradução de Ana Luísa Faria, publicada na coleção Mil Folhas (2002), distribuída com o jornal Público. (N. das T.)
7
AOMAME
Está prestes a entrar num espaço sagrado
Com o seu teto altíssimo e uma iluminação soturna, a entrada do edifício principal do Hotel Okura fazia lembrar uma gigantesca e luxuosa caverna. As vozes das pessoas que conversavam em surdina, sentadas nos sofás, ressoavam no vazio como suspiros de criaturas esventradas. A alcatifa, espessa e fofa, evocava o musgo luxuriante de tempos remotos nalguma ilha distante dos mares do Extremo Norte. Ao longo do tempo, absorvera o ruído dos passos de gerações inteiras. Os homens e as mulheres que por ali passavam, no átrio daquele hotel, pareciam fantasmas condenados por uma maldição antiga, a deambular por aquele lugar, forçados a repetir eternamente o papel que lhes estava destinado. Homens vestidos com fatos de negócios impecáveis. Mulheres jovens e atraentes enfiadas nos seus elegantes vestidos pretos, a caminho de alguma cerimónia celebrada num dos muitos salões do hotel. Usavam joias pequenas mas valiosas, que exigiam a luz ténue para refletir o seu brilho, como vampiros ávidos de sangue. A um canto, sentados nos tronos imperiais, um casal de estrangeiros, já de uma certa idade, descansava os seus corpos, imponentes e esgotados, fazendo lembrar um velho rei decadente e a sua consorte.
Com as suas calças de algodão azul-claro, uma simples camisa branca, as sapatilhas desportivas brancas e o saco azul da Nike, era caso para dizer que Aomame destoava num lugar daqueles, cheio de pergaminhos e de símbolos. Na melhor das hipóteses, devia parecer uma baby-sitter enviada pela agência e contratada pelo hotel para tomar conta dos filhos de algum dos clientes, pensou ela enquanto matava tempo, afundada num enorme cadeirão de braços. Ora, que se lixe! Não vim até aqui para uma visita de cortesia. Ali sentada, tinha a sensação de estar a «ser observada». Contudo, por mais que olhasse à sua volta, não viu ninguém que parecesse espiar os seus movimentos. Não interessa, pensou com os seus botões. Se querem olhar, que olhem à vontade.
Quando os ponteiros do relógio marcaram as seis e cinquenta, Aomame levantou-se e dirigiu-se aos lavabos levando ao ombro o saco desportivo. Lavou as mãos com sabonete e verificou uma vez mais que a sua presença não a denunciava. A seguir, virada para o espelho grande e lustroso, executou meia dúzia de exercícios respiratórios. A casa de banho era enorme e encontrava-se deserta. Talvez fosse maior do que o seu apartamento.
«Este é o meu último trabalho», disse em voz baixa diante do espelho. Assim que o executar, vou desaparecer do mapa. Como um fantasma, sem dizer ámen. Agora estou aqui, mas amanhã poderei já cá não estar. Dentro de dias terei outro nome e outro rosto.
Regressou ao átrio e tornou a sentar-se. Depositou o saco em cima da mesa, ao seu lado. Lá dentro havia uma pequena arma automática com sete munições e uma agulha afiada para cravar na nuca do homem. Tens de manter a calma. Este derradeiro trabalho é o mais importante de todos. Tens de ser a Aomame de sempre, fria e dura.
Ao mesmo tempo, porém, Aomame não conseguia deixar de pensar que não se encontrava numa situação normal. Custava-lhe estranhamente a respirar e preocupava-a a frequência acelerada do seu coração. Sentia o excesso de transpiração formar-se nas axilas, bem como picadas na pele. Não é apenas uma questão de estar tensa, pensou. Tenho uma espécie de «pressentimento». E esse pressentimento funciona como um aviso, que não deixa de bater à porta da minha consciência. «Ainda estás a tempo: sai daqui e esquece tudo isto», é o que ele me diz.
Aomame gostaria de ter seguido o conselho. Queria ter abandonado tudo, virado costas e saído naquela hora pela porta do hotel. Existia qualquer coisa de sinistro naquele lugar, a presença velada da morte fazia-se sentir ali – uma morte lenta e silenciosa, mas inevitável. Porém, não era sua intenção fugir com o rabo entre as pernas. Isso iria contra a sua maneira de ser.
Foram dez minutos que pareciam nunca mais acabar. O tempo recusava-se a avançar. Ela deixou-se estar sentada no sofá, para ver se conseguia regularizar a respiração. Os fantasmas que vagueavam sem cessar pela entrada do hotel continuavam a debitar as suas reverberações ocas. Como almas errantes à procura do seu destino final, deambulavam em silêncio por sobre a espessa alcatifa. De vez em quando, o único som que lhe chegava aos ouvidos era o barulho produzido por uma empregada de bar transportando nas mãos uma bandeja carregada de cafés. No entanto, até mesmo esse som continha em si mesmo uma ambiguidade suspeita. As coisas não caminhavam segundo os melhores auspícios. Se já estou assim nervosa, chegado o momento crucial não serei capaz de fazer nada, pensou. Aomame fechou os olhos e, quase num gesto reflexo, recitou a sua oração, aquela que lhe tinham ensinado a dizer antes das refeições. Passado tanto tempo, ainda se lembrava de cada uma das palavrinhas na perfeição.
Jeová, que estais no Céu,
santificado seja o Vosso nome,
venha a nós o Vosso Reino.
Perdoai as nossas ofensas
e dai-nos a Vossa bênção
enquanto prosseguimos
o nosso humilde caminho.
Ámen.
Ainda que contrariada, Aomame teve de reconhecer que a oração, que em tempos lhe havia provocado tanto sofrimento, contribuía no presente para a ajudar. O eco daquelas palavras acalmava-lhe os nervos, impedia o medo de entrar e fazia com que a sua respiração voltasse ao ritmo normal. Carregou nas pálpebras com a ponta dos dedos e repetiu mentalmente a oração várias vezes.
– Aomame, não é verdade? – perguntou um homem junto a ela. A voz era de um indivíduo ainda novo.
Aomame abriu os olhos, levantou a cabeça devagar e olhou para o dono daquela voz. Diante dela encontravam-se dois homens de pé. Ambos envergavam fatos escuros, quase idênticos. A avaliar pelo tecido e o corte, dir-se-ia, assim à primeira vista, que não se tratava de roupas caras. O mais provável era terem sido comprados nalgum armazém de revenda ou numa grande superfície. Apesar de não lhes cair bem no corpo, era impressionante como não apresentavam uma única ruga. Deviam mandar passá-los a ferro de cada vez que os vestiam. Nenhum deles usava gravata. Um tinha os botões da camisa apertados até acima e o outro levava vestida uma espécie de camisa cinzenta de gola redonda por baixo do casaco do fato. Calçavam sapatos vulgaríssimos de couro preto.
O homem que trazia a camisa branca media talvez um metro e oitenta e cinco e levava o cabelo apanhado num rabo-de-cavalo. As sobrancelhas, longas, formavam um ângulo bem definido, como se fossem linhas de um gráfico. O rosto era bem proporcionado, com feições regulares. Podia ser ator de cinema. O outro homem devia medir um metro e sessenta e cinto e usava a cabeça rapada. Tinha um nariz largo e uma barbicha, apenas no queixo, que por sinal mais parecia uma sombra aplicada por engano; ao canto do olho direito via-se uma pequena cicatriz. Ambos eram magros, de rosto afilado, e estavam os dois bronzeados. Não se lhes podia apontar um grama de gordura a mais, e, a julgar pela largura dos seus ombros, podia adivinhar-se a musculatura firme que se escondia por baixo dos fatos. Deviam andar entre os vinte e cinco e os trinta anos. Possuíam os dois um olhar penetrante e incisivo. Os globos oculares, tal como os de um animal à espreita, não faziam movimentos desnecessários.
Aomame ergueu-se de forma automática e olhou para o relógio de pulso. Os ponteiros marcavam sete horas, nem mais nem menos. Tinham sido pontualíssimos.
– Sim, sou eu – respondeu ela.
As suas caras não deixavam transparecer a mínima expressividade. Lançaram uma olhadela rápida ao visual de Aomame e examinaram o saco azul pousado ao lado dela.
– Só traz isto consigo? – perguntou o Bola-de-Bilhar.
– Sim, só isto – respondeu Aomame.
– Perfeito. Nessa caso, vamos andando. Está pronta? – perguntou de novo o Bola-de-Bilhar. O Rabo-de-Cavalo limitou-se a observar Aomame em silêncio.
– Claro que sim – disse Aomame. Calculou que o mais baixo era o que mandava, para além de ser mais velho.
O Bola-de-Bilhar tomou a dianteira e atravessou o átrio, encaminhando-se para o elevador comum a todos os clientes. Aomame colocou o saco ao ombro e foi atrás dele. O Rabo-de-Cavalo seguia-os, a uns dois metros de distância, de modo que Aomame se encontrava, por assim dizer, ensanduichada entre os dois. Têm experiência destas coisas, pensou Aomame. Caminhavam muito direitos, com passo firme e seguro. A velha senhora contara-lhe que praticavam ambos karaté. Aomame estava ciente de que, no caso de ter de os enfrentar ao mesmo tempo, não teria grandes hipóteses de os pôr fora de combate. Praticava artes marciais há tempo suficiente para saber isso. Contudo, não viu na presença deles a terrível ameaça assinalada por Tamaru. Da mesma forma, também não se podia dizer que fossem «invencíveis». Numa luta corpo a corpo, a primeira coisa que ela teria de fazer era neutralizar o Bola-de-Bilhar, visto ser ele quem dominava o jogo. Depois, tendo apenas de enfrentar o Rabo-de-Cavalo, arranjaria maneira de se safar e fugir.
Entraram os três no elevador e o Rabo-de-Cavalo carregou no botão do sétimo andar. O Bola-de-Bilhar pôs-se ao lado de Aomame e o Rabo-de-Cavalo ficou no canto oposto, de frente para os dois, a formar uma espécie de linha em diagonal, como no basebol. A cena desenrolou-se em silêncio, tudo muito sistemático, como uma jogada desenvolvida entre um jogador de segunda base e um base-interior, habituados a marcar o tempo todo.
Sempre a matutar naquilo, Aomame percebeu de repente que a sua respiração e os batimentos do coração tinham voltado ao normal. Não há motivos para estar preocupada, pensou. Sou a mesma de sempre, a Aomame fria e dura. Vai correr tudo bem, de certeza. Acabaram-se os maus presságios.
A porta do elevador abriu-se silenciosamente. O Rabo-de-Cavalo carregou no botão para manter a porta aberta no sétimo andar, enquanto o Bola-de-Bilhar saiu primeiro. Depois foi a vez de Aomame abandonar o elevador; por último, depois de soltar o dedo do botão, o Rabo-de-Cavalo saiu também. A seguir, avançaram pelo corredor, com o Bola-de-Bilhar à frente, seguido de Aomame, mantendo-se o Rabo-de-Cavalo à retaguarda, para não variar. O corredor era enorme e não se via vivalma. Estava mergulhado no mais completo silêncio e apresentava-se irrepreensivelmente limpo, como seria de esperar num hotel daquela categoria, em que tudo era pensado ao pormenor. Não se via um único tabuleiro com restos de refeições providenciadas pelo serviço de quartos à frente das portas, o cinzeiro junto ao elevador não continha uma beata para amostra, as flores acabadas de cortar que adornavam as jarras e os vasos exalavam um aroma fresco. Depois de terem dobrado um par de esquinas, detiveram-se diante de uma porta. O Rabo-de-Cavalo bateu duas vezes com os nós dos dedos e, sem esperar pela resposta, abriu a porta fazendo uso do cartão magnético. Entrou no quarto e, depois de se certificar de que estava tudo em ordem, virou-se para o Bola-de-Bilhar e assentiu afirmativamente com a cabeça.
– Entre, faça favor – disse o Bola-de-Bilhar num tom seco.
Aomame entrou. O Bola-de-Bilhar entrou logo atrás dela e fechou a porta, reforçando-a com uma corrente. O quarto era muito espaçoso. Nada que se comparasse com aqueles quartos vulgares de hotel. Dispunha de um conjunto de mobília para receber as pessoas e havia inclusive um escritório para trabalhar. Tanto a televisão como o frigorífico eram de tamanho considerável. Tratava-se, sem dúvida, da sala de estar de uma suíte especial. A janela oferecia uma vista da cidade de Tóquio toda iluminada. Estar instalado naquele hotel só podia custar muito dinheiro. O Bola-de-Bilhar verificou as horas no seu relógio e convidou Aomame a sentar-se no sofá. Ela obedeceu e depositou o saco azul a seus pés.
– Quer mudar de roupa? – perguntou o Bola-de-Bilhar.
– Se for possível – respondeu Aomame. – Prefiro a minha roupa de trabalho, é mais cómoda.
O Bola-de-Bilhar assentiu com um movimento de cabeça.
– Antes, se nos permite, temos de a revistar. Lamento, mas faz parte do nosso trabalho.
– Claro, não se preocupem. Podem revistar-me à vontade. – Não se notava a mínima tensão na sua voz. Quando muito, ao ver-se confrontada com o nervosismo deles, registava até um certo tom de divertimento.
O Bola-de-Bilhar aproximou-se de Aomame e apalpou-lhe o corpo com as duas mãos, a fim de verificar que ela não transportava nada suspeito. Visto que ela trazia vestidas umas calças de algodão fino e uma blusa, nem sequer era preciso passar revista para ver que não era possível esconder nada. No fundo, ele limitou-se a cumprir o procedimento estabelecido e a repetir os gestos da ordem. As mãos do homem estavam rígidas e traduziam um certo nervosismo. Não se podia dizer que fosse muito hábil. Se calhar, isso devia-se ao facto de não ter grande experiência a revistar mulheres. Encostado à secretária, o Bola-de-Bilhar observava o parceiro a trabalhar.
Quando acabou, ela mesmo abriu o saco de desporto. Havia um casaquinho de malha fino, um conjunto de top e calças de fato de treino de jérsei para o trabalho e um jogo de toalhas, composto de uma grande e uma pequena. Um estojo com os artigos básicos de maquilhagem e um livro de bolso. Dentro de uma bolsinha feita de contas havia uma carteira, um porta-moedas e uma argola com chaves. Aomame fez questão de entregar cada um dos artigos diretamente na mão do Rabo-de-Cavalo. Por último, tirou uma bolsa preta de plástico e correu o fecho. Lá dentro via-se uma muda de roupa interior, tampões e pensos higiénicos.
– Como transpiro, vou precisar da roupa – explicou Aomame. Só então sacou o conjunto de roupa interior com renda branca e mostrou-o ao Rabo-de-Cavalo. Este corou ligeiramente e fez com a cabeça um gesto breve, como que a dizer que sim, que por ele estava tudo bem e que já tinha visto o que lhe interessava. Aomame perguntou a si mesma se o homem não seria mudo.
A seguir, voltou a meter com todo o vagar a roupa interior e os artigos de higiene pessoal dentro da bolsinha e puxou o fecho de correr. Enfiou-o no saco como se não fosse nada com ela. Estes tipos são amadores, pensou. Qual é o guarda-costas que fica todo corado só por ver um par de pensos higiénicos e roupa interior provocante? Se tivesse sido o Tamaru a executar esta tarefa, teria ido até à última etapa e revistado tudo, de cima a baixo, mesmo que fosse a Branca de Neve que se atravessasse no seu caminho. Estou certa de que teria virado do avesso a malinha com os meus pertences, nem que para isso fosse obrigado a vasculhar um armazém inteiro cheio de sutiãs, camisolas e cuequinhas. Para ele, coisas deste género não passam de ninharias, se bem que o facto de ser gay até à medula também possa ter a sua influência. Ou talvez, sem ir tão longe, ele se limitasse a pegar na bolsa e a verificar o seu peso. Nessa altura, daria sem dúvida pela presença da HK4, que deve pesar cerca de 500 gramas, envolta num lenço, e do pequeno picador de gelo guardado no seu estojo rígido.
Estes tipos são verdadeiros amadores. Podem até ser peritos em karaté, e acredito piamente que tenham jurado fidelidade ao seu Líder, mas não passam de amadores. Tal como tinha previsto a velha senhora. Aomame calculara de antemão que eles não se aventurariam a enfiar a mão dentro da bolsa com os artigos de higiene feminina, e o seu prognóstico revelara-se certo. Era uma espécie de aposta que tinha feito consigo mesma, mas a verdade é que não pensara na alternativa, caso a sua previsão falhasse. Nesse caso, a única coisa que podia fazer era rezar. Porque até aí ela sabia: a parte da reza funcionava.
Aomame entrou na casa de banho grande e vestiu a roupa de trabalho. Dobrou as calças de algodão e a blusa e guardou tudo dentro do saco. Verificou se tinha o cabelo bem preso. Pôs na boca um pouco de spray para o mau hálito. Tirou a HK4 da bolsinha de plástico e, depois de ter puxado o autoclismo a fim de disfarçar o ruído, puxou a corrediça para trás e enfiou uma munição na câmara. Só faltava colocar a patilha na posição de segurança, o que fez a seguir. Por fim, colocou o estojo que continha o picador de gelo na parte de cima do saco, de maneira a poder deitar-lhe a mão rapidamente. Uma vez ultimados todos os preparativos, olhou-se ao espelho e distendeu o rosto, na tentativa de apagar os sinais de crispação.
Calma, está tudo bem. Até ao presente, mantiveste o teu sangue-frio.
Ao sair da casa de banho, Aomame reparou que o Bola-de-Bilhar estava de pé, de costas para ela, a falar baixinho ao telefone. Quando a viu, apressou-se a interromper a conversa e a pousar o auscultador calmamente. A seguir, examinou com ar interessado o fato de treino Adidas que ela entretanto vestira.
– Preparada? – inquiriu ele.
– Quando quiser – respondeu ela.
– Antes, gostaria de lhe pedir um favor – disse o Bola-de-Bilhar.
Aomame esboçou o que parecia ser a amostra de um sorriso.
– Peço-lhe que guarde segredo do que acontecer aqui esta noite – disse o Bola-de-Bilhar.
Em seguida, fez uma pausa e esperou que a mensagem chegasse bem ao fundo da mente de Aomame. Dir-se-ia que aguardava para ver se a água entretanto vertida era absorvida até não deixar marcas na terra seca. Ela fitou-o sem dizer nada durante todo o tempo. O Bola-de-Bilhar prosseguiu o seu discurso.
– Desculpe se corro o risco de parecer um pouco grosseiro, mas estamos dispostos a oferecer-lhe uma recompensa generosa. Isto para além de podermos vir a solicitar os seus serviços mais vezes, daqui em diante. Assim sendo, deve esquecer por completo o que acontecer hoje aqui. Seja o que for que veja, o que oiça, tudo.
– Como sabe – afirmou Aomame, adotando um tom algo frio –, o meu trabalho consiste em ocupar-me do corpo das pessoas. Por isso, tenho perfeita consciência dos meus deveres e da necessidade de proteger a confidencialidade dos clientes. Nenhuma informação pessoal relacionada com o corpo do cliente em concreto sairá deste quarto, seja qual for o problema que ele tiver. Se é isso que o preocupa, pode ficar tranquilo.
– Excelente. Era isso mesmo que queríamos ouvir – afiançou o Bola-de-Bilhar. – Deixe-me, no entanto, acrescentar que se trata de algo que vai para além de um dever de confidencialidade, no sentido mais lato do termo. De alguma forma, está prestes a entrar num espaço sagrado.
– Um espaço sagrado?
– Pode parecer demasiado solene, mas, acredite no que lhe digo, não é exagero da minha parte. A pessoa que irá ver e tocar hoje aqui é sagrada. Nenhuma outra expressão seria adequada.
Aomame assentiu com a cabeça, sem acrescentar nada. Não era altura para gastar o seu latim.
O Bola-de-Bilhar disse:
– Tomámos a liberdade de mandar conduzir uma pequena investigação a seu respeito. Espero que não se sinta ofendida, mas era necessário fazê-lo. Temos as nossas razões para agir com toda esta prudência.
Enquanto escutava as palavras do Bola-de-Bilhar, Aomame deitou uma olhadela em redor para ver o que andaria o Rabo-de-Cavalo a fazer. Estava sentado numa cadeira, mesmo ao lado da porta. Tinha as costas muito direitas, as mãos em cima dos joelhos e o queixo erguido. Parecia que estava a posar para uma fotografia. Não tirava os olhos de Aomame.
– Concluindo, não encontrámos nada que pudesse constituir um problema, motivo pelo qual lhe pedimos que viesse hoje aqui. Chegou ao nosso conhecimento que é uma profissional muito competente e, de facto, devo reconhecer que tem uma excelente reputação.
– Muito obrigada – disse Aomame.
– Em tempos, foi seguidora das Testemunhas, creio...
– Sim, é verdade. Os meus pais eram ambos crentes e, naturalmente, educaram-me nessa fé desde que nasci – explicou Aomame. – Não me tornei membro da seita por escolha própria, e há muito que abandonei a religião.
Sempre gostava de saber se nessa investigação eles terão descoberto que a Ayumi e eu, volta e meia, costumávamos andar por Roppongi à caça de homens? Bom, tanto faz. Mesmo que tenham ficado a par da história, é óbvio que não o consideram um inconveniente. Caso contrário, eu não estaria aqui.
– Também sabemos isso – afirmou o Bola-de-Bilhar. – Mas houve uma época na sua vida em que viveu na fé, e logo durante a primeira infância, um período durante o qual se é particularmente impressionável. Daí que eu parta do princípio de que poderá compreender melhor o que queremos dizer quando falamos de «sagrado».
» Em todas as religiões, o sagrado constitui a raiz de qualquer credo religioso. Neste mundo existem territórios que não podemos ou não devemos invadir. O primeiro passo de toda e qualquer religião consiste em reconhecer e aceitar a existência desse tipo de coisas, e respeitá-las sem impor condições. Entende onde quero chegar, não é verdade?
– Creio que sim – respondeu Aomame. – Posso aceitar, ou não, esse pressuposto, mas isso é outra conversa.
– Evidentemente – acrescentou o Bola-de-Bilhar. – Claro que não é obrigada a aceitar nada disso. Estamos a falar da fé que nos anima, e não da sua. No entanto, acredito que hoje aqui irá testemunhar um acontecimento especial que vai para além da mera questão da crença e que a levará a ultrapassar o seu ceticismo. Encontrará pela frente «um ser fora do comum».
Aomame ficou calada. Um ser fora do comum.
O Bola-de-Bilhar semicerrou os olhos, como se estivesse a avaliar o silêncio de Aomame. Quando falou, foi para dizer, muito pausadamente:
– Seja o que for que aqui vai presenciar, não deverá mencionar nada disto a ninguém. Se alguma informação sair lá para fora, o que para nós é mais sagrado seria irremediavelmente profanado. Como acontece quando um lago de águas límpidas e cristalinas fica contaminado por algum corpo estranho. Esta é a nossa maneira de ver as coisas, independentemente da forma de pensar da sociedade ou das leis que regem o mundo à nossa volta. Gostaríamos que compreendesse o que acabo de dizer. Se entende isso e está disposta a cumprir a sua promessa, como lhe disse ainda há pouco, poderemos recompensá-la e oferecer-lhe uma generosa remuneração.
– Compreendo – respondeu Aomame.
– Fazemos parte de uma modesta organização religiosa, mas somos dotados de um espírito forte e de braços compridos – esclareceu o Bola-de-Bilhar.
Dotados de braços compridos, pensou Aomame. Muito bem, já vamos ver até que ponto são compridos os vossos braços.
De braços cruzados e encostado à secretária, o Bola-de-Bilhar estudava atentamente Aomame. Dava a impressão de querer certificar-se se um quadro pendurado na parede estaria direito ou torto. Quanto ao Rabo-de-Cavalo, mantinha-se na mesmíssima posição, com os olhos cravados em Aomame.
O Bola-de-Bilhar consultou o relógio.
– Vamos andando – disse ele. Pigarreou uma vez, antes de atravessar a sala devagar, num passo prudente, como um asceta caminhando sobre a superfície de um lago. Bateu devagar com os nós dos dedos na porta que dava para o quarto ao lado. Sem esperar pela resposta, abriu a porta, fez uma pequena vénia e entrou. Aomame pegou no saco azul e seguiu-o. Ao pisar com cuidado a alcatifa, procurou manter a respiração regular. Os seus dedos permaneciam apertados com força no gatilho da sua pistola imaginária. Não há motivos para te preocupares. É como das outras vezes. Ainda assim, Aomame sentia medo. Parecia que tinha um pedaço de gelo espetado na espinha. Uma agulha de gelo que não havia meio de se derreter.
Estou calma e descontraída, mas, no fundo, sinto um verdadeiro terror.
«Neste mundo existem territórios que não podemos ou não devemos invadir», tinha dito o Bola-de-Bilhar. Aomame compreendia o que ele queria dizer. Em tempos, ela própria vivera num mundo que no seu coração possuía domínios dessa natureza. Vendo bem, ainda posso continuar a viver nesse mundo. Simplesmente, não me dei conta disso.
Aomame voltou a rezar para si mesma, mal movendo os lábios. Depois, respirou fundo e, enchendo-se de coragem, entrou no outro quarto.
8
TENGO
Está na hora de os gatos entrarem em cena
Tengo passou o resto da semana mergulhado num estranho silêncio. Isto desde que um indivíduo chamado Yasuda telefonara para lhe anunciar que a sua mulher estava perdida e que nunca mais tornaria a vê-la. Pouco depois, tocara a vez de Ushikawa ligar para o informar de que ele e Fuka-Eri desempenhavam o papel de principais portadores do vírus responsável pelo «pensar crime». Cada um deles enviara a Tengo uma mensagem relevante (ou, pelo menos, tudo apontava para isso). À imagem de romanos vestidos com togas, de pé em cima de um púlpito, em pleno fórum, a fim de dirigirem uma proclamação aos concidadãos interessados. E tanto um como o outro desligaram o telefone na cara de Tengo, após terem debitado a sua mensagem.
Depois daquelas duas chamadas a meio da noite, mais ninguém tornara a ligar-lhe. O telefone não voltou a tocar e não recebeu nenhuma carta. Não lhe bateram à porta, não apareceu nenhum pombo-correio com uma mensagem no bico. Tudo indicava que nem Komatsu, nem o Professor Ebisuno, nem Fuka-Eri, nem Kyoko Yasuda, nenhum deles tinha qualquer assunto que precisasse de partilhar com ele.
O próprio Tengo, de resto, parecia ter perdido o interesse por aquelas pessoas. Não só pelas pessoas, por todas as coisas à sua volta. Não queria saber das vendas d’A Crisálida de Ar, onde estava e o que fazia a autora do romance, Fuka-Eri, o que seria do esquema planeado pelo engenhoso editor Komatsu, tão-pouco lhe interessava se os desígnios concebidos pela mente imperturbável do Professor Ebisuno se cumpriam, ou até que ponto os meios de comunicação social se aproximavam da verdade em toda aquela história, ou que movimentações estaria a Vanguarda em vias de desencadear... Se o barco em que todos remavam no mesmo sentido caísse a pique, até ao fundo das cataratas, paciência, não teria outro remédio senão deixar-se arrastar na queda. Por mais que lutasse, Tengo já não ia a tempo de mudar o curso do rio.
Naturalmente, o assunto de Kyoko Yasuda deixava-o preocupado. Desconhecia os pormenores da situação; contudo, se pudesse fazer alguma coisa para ajudar, não se pouparia a esforços. Fossem quais fossem os problemas que ela enfrentava naquele momento, a verdade é que o assunto se encontrava fora do seu alcance. A bem dizer, não podia fazer rigorosamente nada.
Deixara de ler jornais. O mundo avançava sem ele. A letargia apoderara-se do seu corpo formando uma espécie de névoa individual. Mantinha-se longe das livrarias para não ser obrigado a ver os volumes d’A Crisálida de Ar empilhados nos escaparates. Limitava-se a ir direito de casa para a escola e da escola para casa. Estava quase toda a gente já a gozar as férias grandes, mas, como a escola organizara cursos especiais de verão, de certo modo andava mais ocupado do que nunca. Aceitava a situação de bom grado. Pelo menos, enquanto dava aulas só pensava nos problemas de Matemática.
Deixara inclusivamente de trabalhar no seu romance. Mesmo que se sentasse no escritório, diante do processador de texto, vendo o ecrã iluminado à sua frente, não conseguia encontrar motivação para escrever. Sempre que tentava pensar em qualquer coisa, vinham-lhe à cabeça fragmentos da conversa com o marido de Kyoko Yasuda e com Ushikawa. Resultado: era incapaz de se concentrar no romance.
A minha esposa está irremediavelmente perdida e não poderá voltar a visitá-lo, dê lá por onde der.
Isto tinha sido o que o marido de Kyoko Yasuda lhe dissera.
Para utilizar uma expressão clássica, pode dizer-se que vocês abriram a caixa de Pandora. Lá de dentro saíram várias coisas que se espalharam pelo mundo. Pelo menos, parece ser isso o que os meus clientes pensam, baseado na impressão com que fiquei. Os dois, apesar de se terem encontrado por acaso, formam uma combinação bem mais poderosa do que possa pensar. Cada um conseguiu complementar de forma eficaz a parte que faltava ao outro.
Aquilo tinha sido Ushikawa a dizer-lhe.
As duas mensagens eram por demais ambíguas. E, além disso, ambas tentavam dizer a mesma coisa por outras palavras. Procuravam, cada uma à sua maneira, transmitir a ideia de que Tengo, sem ter consciência, revelara um certo poder e estava a exercer uma influência real (provavelmente, uma influência pouco favorável) no mundo que o rodeava.
Tengo desligou o computador, sentou-se no chão e ali se deixou ficar, a olhar para o telefone durante um certo tempo. Precisava de mais pistas, faziam-lhe falta mais peças para resolver o quebra-cabeças. E não tinha ninguém que lhas oferecesse de mão beijada. Por aqueles dias (ou talvez desde sempre), a gentileza era uma qualidade difícil de encontrar em quantidade suficiente no mundo à sua volta.
Pensou em telefonar a alguém. A Komatsu, ao Professor Ebisuno ou a Ushikawa. Ao mesmo tempo, porém, a vontade de o fazer não era tão forte quanto isso. Estava farto das informações absurdas e das conversas repletas de insinuações. Quando procurava junto deles soluções para resolver um enigma, serviam-lhe outro enigma de bandeja. Aquele jogo não podia continuar para sempre. Fuka-Eri e Tengo formavam uma poderosa combinação. Se eles o diziam, tinham razão. Tengo e Fuka-Eri. Tal como Sonny & Cher. O duo mais forte. «The Beat Goes On».
Os dias iam passando. Por fim, Tengo cansou-se de ficar metido no seu apartamento, sem fazer nada, à espera de que acontecesse alguma coisa. Meteu a carteira e um livro no bolso, enfiou um boné de basebol e os óculos de sol, e abandonou o apartamento, caminhando em direção à estação de Koenji num passo decidido. Quando ali chegou, exibiu o passe e subiu para o primeiro expresso da linha Chuo que ia a passar, com destino a Tóquio. A carruagem encontrava-se praticamente vazia. Não tinha nenhum plano definido em mente. Era livre de ir até onde lhe apetecesse e de fazer (ou não fazer) o que lhe desse na real gana. Eram dez horas de uma manhã de verão, soalheira e sem vento.
Pelo sim, pelo não, mantinha-se alerta, pensando que os «investigadores» de que Ushikawa falara poderiam muito bem estar a segui-lo. Durante o percurso até à estação, deteve-se de repente e olhou para trás, rapidamente, mas não viu ninguém com ar suspeito. Na estação, dirigiu-se de propósito à plataforma errada, para depois fingir que acabara de mudar de ideias, dar meia-volta e descer as escadas a correr. Contudo, não houve quem imitasse os seus movimentos. Tratava-se de um caso típico de delírio persecutório. Ninguém o seguia. Tengo não era assim tão importante e tempo era coisa que eles não tinham. Além disso, nem ele próprio sabia para onde se dirigia e o que ia fazer. Quem dera a Tengo poder observar-se a si mesmo, de preferência à distância, a fim de saber como agiria dali em diante.
O comboio onde seguia passou por Shinjuku, por Yotsuya, por Ochanomizu, até chegar ao terminal, na estação de Tóquio. Os outros passageiros desceram do comboio, e ele seguiu-lhes o exemplo. Depois, sentou-se num banco e pôs-se a pensar no que haveria de fazer.
Onde é que poderei ir? Agora estou na estação de Tóquio. Não disponho de nenhum plano para fazer nada em concreto todo o santo dia. A partir deste lugar, tenho liberdade para ir aonde quiser. Tudo indica que vai estar um dia quente. Talvez possa ir até à praia. Tengo levantou a cabeça e estudou o quadro que indicava os horários e as diferentes ligações entre os comboios.
E só então se deu conta do que o conduzira até ali.
Abanou a cabeça várias vezes, mas não serviu para afugentar a ideia. Se calhar, inconscientemente, já tinha a decisão tomada, a partir do momento em que apanhara o comboio da linha Chuocom destino a Tóquio, na estação de Koenji. Soltou um suspiro, levantou-se do banco, desceu as escadas e dirigiu-se à plataforma da linha Sobu. De caminho, perguntou a um funcionário como podia fazer para chegar quanto antes a Chikura, e o homem consultou o horário num volumoso guia. Havia um comboio rápido especial até Tateyama às onze e meia e, apanhando um comboio normal, chegaria à estação de Chikura pouco depois das duas. Tengo comprou um bilhete de ida e volta e reservou lugar no expresso. Em seguida, entrou no restaurante da estação e mandou vir um prato de curry com arroz e salada. Após a refeição, matou o tempo bebendo uma grande chávena de café aguado.
A ideia de ir visitar o pai deprimia-o. Nunca gostara muito dele, e o mais provável era o pai nunca ter manifestado uma grande afeição por Tengo. Nem sequer sabia se o pai sentia qualquer desejo de o ver. Desde que Tengo, então na primária, se recusara a acompanhá-lo quando ele ia de casa em casa cobrar as taxas para a NHK, a relação entre ambos havia esfriado. A partir de certa altura, Tengo deixara praticamente de falar com o pai. Quatro anos antes, o seu progenitor reformara-se da NHK e, pouco depois, dera entrada numa clínica de Chikura, especializada em doentes com demência. Desde essa altura, visitara-o apenas em duas ocasiões – a primeira ocorrera logo a seguir a o pai ter sido internado na clínica, quando surgira um problema de ordem burocrática que exigira a presença de Tengo, na qualidade de único representante da família, e houvera uma segunda vez, que também estivera relacionada com uma questão administrativa. Duas vezes, mais nada.
A clínica ficava situada num vasto terreno, separado da costa por uma estrada. Na sua origem, tinha sido a casa de campo de uma família endinheirada ligada aos grandes consórcios financeiros e industriais japoneses; depois, fora comprada por uma empresa seguradora, para ser transformada em instalações de lazer para os seus membros, e, finalmente, nos anos mais recentes, convertera-se numa clínica que tratava sobretudo doentes com problemas de demência. Por essa razão, aos olhos de um observador externo, havia qualquer coisa de incongruente na coexistência do elegante edifício de madeira, de aparência envelhecida, com a nova estrutura de betão armado, composta de três andares. Apesar disso, respirava-se ar puro e, tirando o ruído das ondas, reinava sempre uma grande calmaria. Nos dias em que não fazia demasiado vento, dava para passear na praia. Havia uma série de pinheiros imponentes, plantados no jardim, que formavam uma barreira protetora contra o vento. A clínica dispunha ainda de todo o tipo de instalações médicas.
Graças ao seguro de saúde, às suas poupanças e à pensão de reforma, o pai de Tengo podia passar o resto da vida naquele lugar sem se privar de nada. E tudo devido a um golpe de sorte, que o levara a ter sido contratado como funcionário a tempo inteiro da NHK. Se bem que não ficasse com grande coisa para deixar como herança, pelo menos podia cuidar de si mesmo. Tengo ficara-lhe muito agradecido por isso. Independentemente de ele ser ou não o seu pai biológico, Tengo não fazia tenção de receber nada daquele homem, e este tão-pouco pretendia dar-lhe o que quer que fosse. Eram dois seres humanos com origens distintas e com destinos diferentes. Por obra do acaso, tinham partilhado vários anos de vida. Só isso. Embora Tengo sentisse pena pelo facto de as coisas terem acontecido assim, não havia nada que pudesse fazer para remediar a situação.
No entanto, chegara a hora de rever o pai. Apesar de a ideia não lhe agradar por aí além, Tengo tinha consciência desse dever. Preferia inverter a marcha e regressar a casa. Mas já guardara o bilhete de ida e volta no bolso, assim como o bilhete para o expresso. As coisas estavam em movimento, por assim dizer.
Levantou-se, pagou a conta do restaurante e dirigiu-se até à plataforma, onde ficou à espera do comboio para Tateyama. Voltou a olhar com atenção à sua volta, mas não viu ninguém com ar de «investigador». Estava rodeado de famílias inteiras que pareciam felizes da vida por irem passar uns dias à beira-mar. Tengo guardou os óculos de sol no bolso e ajustou o boné de basebol na cabeça.
Que se lixem! Se me quiserem vigiar, vigiem à vontade! Vou agora de viagem até uma cidadezinha costeira, na prefeitura de Chiba, para visitar o meu pai, que sofre de demência. Pode ser que ele se lembre do filho; pode ser que não. Da última vez que estive com ele, a sua memória já se tornara incerta. O mais provável é ter piorado desde então. Nesse tipo de doenças, o mal progride, e não há cura. Pelo menos, é o que dizem. À imagem e semelhança de uma engrenagem que se move só para diante.
Assim que o comboio abandonou a estação de Tóquio, tirou do bolso o livrinho que tinha levado e começou a ler. Tratava-se de uma antologia de contos de viagem, e entre eles havia uma história sobre um rapaz que viajava até uma cidade governada por gatos. Tinha por título «A Cidade dos Gatos». Era o relato fantástico escrito por um autor alemão de que ele nunca ouvira falar. Numa nota editorial, explicava-se que a história fora escrita entre as duas guerras mundiais.
Transportando apenas uma mala, o rapaz viajava sozinho, por gosto, sem rumo certo. O que lhe dava gozo era subir para o comboio, seguir viagem e apear-se num lugar que despertasse a sua atenção. Ia à procura de alojamento, visitava a povoação e deixava-se ficar por aquelas paragens durante o tempo que lhe apetecesse. Quando se fartava, apanhava outra vez o comboio. Era assim que tinha por hábito passar as suas férias.
Certo dia, avistou pela janela do comboio um bonito rio, que serpenteava por entre verdes colinas. Aninhada aos seus pés viu uma bonita cidadezinha acolhedora, em que se respirava um ambiente de calma. Uma velha ponte de pedra estabelecia ligação entre as duas margens do rio. Aquela paisagem cativou-o por completo. «Quem sabe se não poderei ali saborear deliciosos pratos à base de truta-de-rio?» Quando o comboio se deteve na estação, o jovem desceu, carregando a sua mala. Nenhum outro passageiro se apeou. Mal pisou terra firme, o comboio partiu.
Não havia nem um empregado na estação, que, pelos vistos, devia conhecer muito pouco movimento. O jovem atravessou a ponte de pedra e encaminhou-se para a cidade. O silêncio era total. Não se via vivalma. Todas as lojas apresentavam os taipais metálicos corridos e o edifício da Câmara Municipal encontrava-se deserto. Na receção do único hotel da zona não estava ninguém ao balcão. Tocou à campainha, mas nada. Parecia uma cidade desabitada. Ou talvez estivesse toda a gente a dormir a sesta. Contudo, eram apenas dez e meia da manhã, cedo demais para uma pessoa resolver passar pelas brasas. Em todo o caso, por uma razão ou outra, os habitantes haviam abandonado a cidade. Até à manhã seguinte não passaria por ali mais nenhum comboio, por isso a única hipótese era pernoitar naquele lugar. Para matar o tempo, pôs-se a deambular pelas ruas.
Na realidade, encontrava-se na cidade dos gatos. Assim que o Sol começou a pôr-se, numerosos gatos atravessaram a ponte e invadiram a cidade. Gatos de diferentes tamanhos e de todas as cores. Um pouco maiores do que os gatos normais, mas não era por isso que deixavam de ser gatos. O jovem, abismado ao ver aquilo, apressou-se a subir ao campanário que havia no meio da cidade, em busca de refúgio. Como se estivessem habituados àquela rotina, os gatos abriram as portas e as persianas das lojas ou sentaram-se à secretária, nos gabinetes da Câmara, prontos para mais um dia de trabalho. Passado um bocado, um grupo ainda mais impressionante de gatos atravessou a ponte, por seu turno, e entrou na cidade. Enquanto uns faziam compras nas lojas, outros dirigiam-se à Câmara para despachar assuntos burocráticos; outros ainda bebiam cerveja nos bares e cantavam alegres canções felinas. Também havia um que tocava concertina, enquanto à sua volta vários gatos dançavam ao som da música. Uma vez que conseguiam ver no escuro, os gatos quase não precisavam de luz, mas como nessa noite a lua cheia iluminava a cidade inteira, o jovem pôde observar tudo do princípio ao fim, lá do alto do campanário. Quando chegou o amanhecer, os gatos fecharam as lojas, cada um abandonou o seu local de trabalho e as suas ocupações, e regressaram pela ponte ao lugar de origem.
Ao nascer o dia, os gatos já tinham desaparecido e a cidade voltou a ficar deserta. Foi então que o rapaz desceu do seu posto de observação, enfiou-se numa das camas à disposição no hotel e caiu a dormir. Quando sentia fome, comia o pão e o peixe que tinham sobrado na cozinha do hotel. E quando começava a escurecer, voltava a subir ao cimo do campanário, escondia-se e ficava ali a espiar o comportamento dos gatos até ser dia. O comboio parava na estação antes do meio-dia e antes do entardecer. Nenhum viajante se apeava ali e ninguém apanhava o comboio naquela estação; e, no entanto, o comboio parava à mesma hora de sempre na estação e partia ao fim de um minuto. Portanto, caso fosse esse o seu desejo, poderia subir a bordo e abandonar a inquietante cidade dos gatos em qualquer altura. Mas ele não quis. Era jovem, estava cheio de curiosidade e de ambição, dominado pelo espírito aventureiro. Não queria perder o insólito espetáculo que lhe era dado a observar na cidade dos gatos. Se possível, queria saber desde quando haviam os gatos ocupado a cidade e como é que tal acontecera, de que forma é que se encontravam organizados e que diabo faziam ali tais bichos. Devia ser ele o único ser humano a testemunhar aquelas cenas bizarras.
Na noite do terceiro dia, armou-se grande burburinho na praça que ficava mesmo por baixo do campanário. «Olhem lá, não cheira aqui a humano?», começou por dizer um dos gatos. «Agora que falas nisso, bem que eu tinha a sensação de que havia um cheiro esquisito por estas bandas, nos últimos dias», concordou outro, torcendo o nariz. «O mesmo digo eu», acrescentou um terceiro. «Não deixa de ser estranho, uma vez que aqui não pode entrar ninguém», alvitrou outro. «Sim, tens razão, nenhum ser humano pode entrar na cidade dos gatos.» «Agora, do que não há dúvida é que cheira mesmo a um deles.»
Os gatos formaram vários grupos e percorreram as ruas da cidade de cima a baixo, organizados como uma patrulha de vigilantes de bairro. É sabido que os gatos são donos de um olfato apurado, quando estão para aí virados. Resultado: não tardaram a descobrir que o odor provinha do alto do campanário. O jovem ouviu o barulho das suas patas macias quando eles iam a subir as escadas que levavam ao topo. «É o fim, estou entre a espada e a parede, agora é que me apanharam», pensou ele. O odor humano parecia provocar nos gatos uma grande excitação, para não falar em raiva. Tinham garras enormes, afiadas, e dentes brancos e pontiagudos. Aquela cidade era um lugar onde nenhum homem devia aventurar-se. Não sabia que destino o esperava quando o encontrassem, mas não acreditava que o deixassem partir com vida, tranquilamente, depois de ele ter descoberto o segredo deles.
Três dos felinos alcançaram o campanário e puseram-se a cheirar, de focinho no ar. «Que esquisito», exclamou um deles, sacudindo os seus longos bigodes. «Cheira a carne humana, mas não se vê homem nenhum.» «Sim, é bizarro, diria mesmo», comentou outro. «Em todo o caso, aqui não está ninguém. Vamos procurar noutro lado.» «Isto é de doidos!»
Abanando a cabeça, desconcertados, os três gatos lá se foram embora. Desceram as escadas sem fazer barulho e esfumaram-se no meio das trevas. O jovem suspirou de alívio, apesar de, também a ele, aquilo tudo lhe parecer uma loucura. Os gatos e o rapaz tinham estado literalmente a um palmo de distância, nariz com nariz, num espaço reduzido. Não poderiam ter deixado de dar pela sua presença. E, no entanto, por qualquer razão, pareciam não o ter visto. Aproximou as mãos dos olhos e examinou-as. Via perfeitamente. Não se tornara invisível. Estranho. Em todo o caso, decidiu que na manhã seguinte iria até à estação e deixaria a cidade no primeiro comboio. Permanecer ali era demasiado perigoso. A sorte poderia não durar sempre.
No dia seguinte, porém, o comboio da manhã não parou na estação. Passou à frente dos seus olhos sem sequer abrandar. A cena repetiu-se com o comboio da tarde. Dava para ver o condutor, sentado no seu posto, bem como o rosto dos passageiros, através das janelas. Mas o comboio não deu sequer sinal de parar. Como se a figura do jovem à espera passasse despercebida aos olhos das pessoas, o mesmo acontecendo com a própria estação. Quando a última carruagem do comboio da tarde desapareceu ao longe, tudo em redor ficou em absoluto silêncio. O Sol começou então a pôr-se. Já era hora de os gatos entrarem em cena. O rapaz soube que estava irremediavelmente perdido. Aquela não era a cidade dos gatos, afinal. Aquele era o lugar onde devia perder-se. Um lugar que não era deste mundo, mas especialmente criado a pensar nele. E nenhum comboio voltou a parar naquela estação, a fim de o transportar até ao seu mundo de origem.
Tengo releu o conto. A frase «aquele era o lugar onde devia perder-se» chamou-lhe a atenção. Em seguida, fechou o livro e contemplou desinteressadamente a monótona zona industrial costeira que ia vendo desfilar através da janela. As chamas de uma refinaria petrolífera, gigantescos reservatórios de gás, enormes chaminés, baixas e grossas, alinhadas como canhões de longo alcance. Filas de atrelados e camiões-cisterna circulando pela estrada. Uma paisagem muito distante da imagem que lhe ficara gravada da cidade dos gatos, mas que nem por isso deixava de ter a sua componente fantástica, como se debaixo da terra existisse um mundo dos mortos que sustentasse a vida urbana.
Tengo fechou os olhos e imaginou Kyoko Yasuda encerrada nesse lugar perdido, o lugar onde estava escrito que ela se perderia. Ali os comboios não paravam. Não havia telefones nem caixas de correio. Durante o dia, estava completamente sozinho, e, quando chegava a noite, os gatos davam início à sua incessante busca. O ciclo repetia-se, lua após lua, sem cessar. Inadvertidamente, deixou-se dormir. Foi um sono curto mas profundo. Acordou todo a transpirar. O comboio avançava ao longo do litoral da península de Minamiboso, num dia de verão.
Tengo desceu do expresso em Tateyama e apanhou um comboio regional que o levou até Chikura. Ao sair na estação, sentiu no ar o cheiro familiar da maresia. Reparou que todas as pessoas a caminhar pela rua estavam bronzeadas. Apanhou um táxi da estação até à clínica. Na receção deu o seu nome, bem como o nome do pai.
– Avisou-nos antecipadamente da sua visita hoje? – perguntou num tom formal, um nadinha ríspido, a enfermeira de meia-idade que se encontrava sentada atrás do balcão de atendimento. Era uma senhora de estatura baixa, tinha óculos com armação metálica, e no cabelo, que usava curto, viam-se algumas brancas. No dedo anelar, por sinal rechonchudo, exibia um anel que devia ter sido comprado para fazer conjunto com os óculos. Na placa de identificação estava escrito «Tamura».
– Não. Confesso que só me lembrei disso esta manhã, e apanhei o comboio, sem mais nem menos – respondeu Tengo com sinceridade.
A enfermeira lançou-lhe um olhar desconcertado.
– Quando se vem visitar alguém, é conveniente avisar com antecedência. Temos os nossos horários preenchidos com um programa estabelecido, além de que é preciso ter em conta a situação concreta de cada doente.
– Peço desculpa, não sabia.
– Quando foi a última vez que cá veio?
– Faz agora dois anos.
– Dois anos – repetiu a enfermeira, verificando a lista de visitantes com a esferográfica na mão. – Quer então dizer que nestes dois anos não o veio visitar uma única vez?
– Precisamente.
– Segundo este registo, o senhor Kawana não tem mais família.
– Assim é.
A enfermeira pousou a lista em cima do balcão, olhou para Tengo de esguelha e não disse nada. O seu olhar não exprimia reprovação, limitava-se a comprovar um determinado facto. Tudo indicava que Tengo não devia ser caso único.
– O seu pai encontra-se agora numa sessão de reabilitação de grupo. Estará despachado daqui a meia hora. Nessa altura, poderá vê-lo.
– Qual é o estado dele?
– No plano físico, a saúde é boa. Não há nenhum problema especial a registar. No que respeita ao resto, tem os seus altos e baixos. – Dizendo aquilo, a enfermeira pressionou ao de leve a têmpora com o dedo indicador. – Como, aliás, poderá avaliar por si mesmo.
Tengo agradeceu e foi até à salinha de espera que ficava ao lado da entrada, para fazer tempo. Sentou-se num sofá que cheirava a outros tempos e pôs-se a ler o livro de bolso. Volta e meia soprava uma brisa que trazia consigo o cheiro a mar e os ramos dos pinheiros produziam um rumor refrescante. As cigarras, agarradas em grande número às árvores, cantavam ao desafio. O verão atingia o seu apogeu, mas as cigarras, fazendo ressoar os seus gritos estridentes, pareciam ter consciência de que aquele momento não duraria muito mais.
Passado algum tempo, apareceu a enfermeira Tamura, com os seus óculos postos, e comunicou-lhe que a sessão de reabilitação havia terminado e que já podia ver o pai.
– Vou conduzi-lo ao quarto dele – disse a enfermeira. Tengo levantou-se do sofá, passou diante de um grande espelho colocado na parede e só então reparou no seu ar desmazelado: vestia uma camisa de ganga deslavada, a que faltavam vários botões, por cima de uma T-shirt alusiva à digressão oficial de Jeff Beck pelo Japão; as calças chino apresentavam pequeninas manchas de molho de piza na zona do joelho; os ténis cor de caqui não eram lavados há séculos; um boné de basebol. Enfim, não se podia dizer que fosse a vestimenta apropriada para um filho na casa dos trinta que ia visitar o pai ao hospital depois de ter passado dois anos sem lhe pôr a vista em cima. Nem sequer trouxera algo para lhe oferecer. Com ele só tinha o livro de capa mole que enfiara no bolso. Não era de estranhar que a enfermeira tivesse olhado para ele com aquela expressão desconcertada.
Atravessaram o jardim e, enquanto se dirigiam para a ala onde ficava o quarto do seu pai, a enfermeira forneceu-lhe algumas explicações breves. A clínica estava dividida em três alas, conforme o estádio de evolução da doença. Naquele momento, o pai de Tengo encontrava-se no «estado intermédio». Normalmente, os pacientes ingressavam na ala destinada ao «estado ligeiro», passavam ao «estado intermédio» e eram depois transferidos para a ala que acolhia os doentes em «estado crítico». Como uma porta que se abre apenas numa direção, não existia a transferência do «estado crítico» para o «estado ligeiro». Depois do edifício destinado aos indivíduos em «estado crítico», nada mais estava previsto – a não ser o crematório. Naturalmente que a enfermeira não foi tão longe; a alusão, porém, ficou a pairar no ar.
O quarto do pai destinava-se a duas pessoas, mas o seu companheiro encontrava-se ausente a participar numa atividade qualquer. A clínica organizava diversos cursos – de olaria, jardinagem e ginástica. Apesar de terem a palavra «reabilitação» no nome, não se destinavam propriamente a recuperar os doentes. O propósito desses cursos era impedir o avanço da doença, na medida do possível, ou simplesmente passar tempo. O pai estava sentado num cadeirão, perto da janela aberta, a olhar lá para fora. Tinha as mãos em cima dos joelhos. Na mesa ao lado havia uma planta que dera flores com delicadas pétalas amarelas. O pavimento era feito de um material suave, para evitar que os doentes se magoassem no caso de uma eventual queda. Havia duas camas de madeira, simples, duas escrivaninhas e um armário para guardar a roupa e os vários pertences. Junto a cada escrivaninha, cada um tinha a sua pequena prateleira com livros. As cortinas da janela estavam amarelecidas devido à prolongada exposição ao sol.
Tengo não reconheceu de imediato aquele ancião sentado ao pé da janela como sendo o pai. Tornara-se mais pequeno. Ou talvez fosse mais correto dizer que «minguara». O cabelo, que usava mais curto, ficara completamente branco, como um relvado coberto de neve. Apresentava as faces encovadas e, talvez por isso, as órbitas pareciam muito maiores do que se lembrava. Três rugas profundas vincavam-lhe a testa. A forma da sua cabeça parecia mais deformada do que dantes, o que provavelmente se ficara a dever ao facto de usar o cabelo curto. As sobrancelhas eram bastante compridas e espessas, e das orelhas saíam tufos de pelos brancos. Dir-se-ia que as suas orelhas, grandes e pontiagudas, tinham aumentado de tamanho, ao ponto de fazerem lembrar asas de morcego. Só o nariz conservava a mesma forma de sempre – era redondo e bolboso, em contraste com as orelhas, e continuava fortemente avermelhado. As comissuras dos lábios mostravam-se penduradas; dava a impressão que dali poderia começar a cair baba a qualquer momento. A boca, entreaberta, deixava ver os dentes tortos. A imagem do pai sentado à janela, mudo e quedo, recordou-lhe um autorretrato de Van Gogh nos seus últimos anos de vida.
Quando Tengo entrou no quarto, aquele homem limitou-se a olhar para ele de relance e depois continuou a observar a paisagem pela janela. Assim à distância, mais do que um ser humano, assemelhava-se a um rato ou a um esquilo – uma criatura da raça dos mamíferos roedores que não prima pelos hábitos de higiene, mas dotada de uma inteligência considerável. Para todos os efeitos, tratava-se, sem sombra de dúvida, do pai de Tengo. Ou, melhor dizendo, do que restava do pai. Aqueles dois anos tinham provocado muitos estragos e despojado o seu corpo de energia vital, da mesma forma que um cobrador de impostos, desprovido de piedade, expropria um homem pobre de todos os seus haveres. Tengo lembrava-se do pai como tendo sido um homem forte e um trabalhador incansável. A introspeção e a imaginação não eram o seu forte, mas possuía um código moral e defendia com firmeza as suas ideias. Estoico por natureza, Tengo nunca ouvira da sua boca desculpas nem lamentos. Porém, o homem que tinha diante de si não passava de uma carapaça. Uma casa desabitada, despida e desprovida de calor.
– Senhor Kawana! – A enfermeira dirigiu-se ao pai de Tengo utilizando uma voz penetrante e articulando bem as palavras. Devia ter sido treinada para falar nesse tom com os doentes. – Senhor Kawana! Veja quem o veio visitar! Está aqui o seu filho.
O pai limitou-se a observá-los. Os seus olhos, inexpressivos, fizeram lembrar a Tengo dois ninhos de andorinha vazios, abandonados debaixo de um beiral.
– Olá! – saudou Tengo.
– Senhor Kawana, o seu filho veio de Tóquio para o ver – disse a enfermeira.
O pai permaneceu calado, sempre a olhar de frente para a cara de Tengo. Como se estivesse a ler um decreto incompreensível escrito numa língua estrangeira.
– O jantar é servido a partir das seis e meia – declarou a enfermeira a Tengo. – Até lá, pode fazer o que quiser.
Quando a enfermeira abandonou o quarto, Tengo, depois de um momento de hesitação, aproximou-se do pai e sentou-se numa cadeira à frente dele. Uma cadeira estofada num tecido que perdera entretanto a cor. Parecia muito usada, e as partes de madeira estavam cheias de marcas feitas pelo tempo. O pai seguiu os movimentos dele com o olhar.
– Como é que o pai está?
– Bem, obrigado – respondeu o pai, num tom cerimonioso.
Tengo não soube o que dizer mais. Começou a brincar com o terceiro botão da camisa, enquanto olhava pela janela e via a barreira contra o vento formada pelos pinheiros. Depois voltou a olhar de frente para o pai.
– Veio de Tóquio? – perguntou o pai. Parecia não se recordar de Tengo.
– Vim.
– Calculo que tenha apanhado o comboio expresso.
– Assim foi – respondeu Tengo. – Apanhei o expresso até Tateyama, mudei de linha e depois meti-me num comboio que me trouxe até Chikura.
– Veio até à praia, para tomar um banho de mar? – perguntou o pai.
– Sou o Tengo. Tengo Kawana. O teu filho.
– Em que parte de Tóquio é que vive? – quis saber o pai.
– Em Koenji, no bairro de Suginami.
As três rugas que o pai tinha na testa tornaram-se mais profundas.
– Muita gente conta mentiras para não ter de pagar a taxa da assinatura da NHK – afirmou categoricamente o pai.
– Papá – interpelou Tengo. Havia muito tempo que não pronunciava aquela palavra. – Sou eu, o Tengo. O teu filho.
– Eu não tenho nenhum filho – afirmou categoricamente o pai.
– Não tens nenhum filho – repetiu Tengo, de maneira automática.
O pai fez um sinal afirmativo com a cabeça.
– Nesse caso, quem sou eu? – perguntou-lhe Tengo.
– Ninguém, tu não és ninguém – disse o pai. Ao dizer aquilo, abanou a cabeça duas vezes, simplesmente.
Tengo engoliu em seco e ficou sem fala. O pai, por seu turno, também não voltou a abrir a boca. Continuaram os dois sentados, em silêncio, cada um procurando encontrar o fio à meada, mergulhado no emaranhado dos seus pensamentos. Só as cigarras continuavam, imperturbáveis, a chiar alto e bom som, produzindo uma chinfrineira que fazia doer os ouvidos.
Este homem pode muito bem estar a dizer a verdade, sentiu Tengo lá no fundo. Se calhar, a sua memória está deteriorada e a mente ficou turva, mas as palavras que lhe saem da boca são por certo verdadeiras. Tengo soube-o por intuição.
– Que pretendes dizer com isso? – perguntou Tengo.
– Tu não és ninguém. – O pai repetiu aquelas mesmas palavras num tom de voz desprovido de emoção. – Nunca foste ninguém, não és ninguém e nunca serás ninguém.
Já chega, pensou Tengo.
Queria levantar-se da cadeira, caminhar até à estação e regressar a Tóquio. Já ouvira tudo o que tinha a ouvir. Mas não conseguiu pôr-se de pé. Aconteceu-lhe o mesmo que ao rapaz que chegara à cidade dos gatos. Também ele sentia curiosidade. Queria ir para além das palavras e obter uma resposta mais precisa, o que, claro está, representava um certo perigo. No entanto, se deixasse escapar aquela oportunidade, o mais provável era perder a oportunidade de vir a conhecer o segredo que dizia respeito à sua vida. E tudo se afundaria para sempre no meio do caos.
Tengo ordenou as palavras na sua cabeça até conseguir dar-lhes a forma pretendida. Depois falou com decisão.
– Estás a querer dizer-me que não és meu pai no sentido biológico? Que entre nós não existe qualquer laço de sangue?
O pai fitava-o sem dizer nada. Pela sua expressão, era impossível saber se teria compreendido o alcance da pergunta.
– Roubar ondas eletromagnéticas é ilegal – afirmou o pai, olhando para ele de frente. – É a mesma coisa que roubar dinheiro ou valores, não te parece?
– Sim, tens toda a razão. – Tengo achou por bem não o contrariar.
O pai assentiu várias vezes com a cabeça, dando mostras de satisfação.
– As ondas eletromagnéticas não caem do céu de graça, como acontece com a chuva ou a neve – continuou o pai.
Tengo olhou para as mãos do pai, sem dizer nada. Estavam imóveis, em posição de descanso, sobre os joelhos. A direita em cima do joelho direito, a esquerda em cima do joelho esquerdo. Eram pequenas e de pele trigueira, tisnadas pelo sol e calejadas por muitos anos de trabalho ao ar livre.
– A minha mãe não morreu de doença quando eu era pequeno, pois não? – perguntou Tengo, muito devagar, separando bem as palavras.
O pai não respondeu. A sua expressão não se modificou e as suas mãos não mudaram de posição. Olhava para Tengo como se observasse algo nunca visto.
– A minha mãe saiu de casa. Deixou-te, a ti, e abandonou-me. Provavelmente, foi-se embora com outro homem. Engano-me?
O pai acenou afirmativamente com a cabeça.
– Roubar ondas eletromagnéticas não está bem. As pessoas não podem fazer o que lhes dá na gana e fugir sem pagar, não é justo.
Este homem entendeu a minha pergunta na perfeição. Simplesmente, não quer falar do assunto. Foi essa a impressão com que Tengo ficou.
– Papá – disse Tengo. – Mesmo que não sejas o meu verdadeiro pai, faço questão de te chamar assim, já que não saberia tratar-te de outra maneira. Para ser sincero, nunca gostei de ti. Pode até dizer-se que alturas houve em que te odiei. Sabes do que estou a falar, não sabes? Partindo do princípio de que não és meu pai, que não existe entre nós qualquer laço de sangue, deixaria de ter motivos para te detestar. Ignoro se conseguiria sentir simpatia por ti, mas pelo menos poderia compreender-te melhor do que até à data. Sim, porque o que sempre persegui foi a verdade. Quem sou e de onde vim. Isso é tudo o que pretendo saber. Mas foi precisamente isso que ninguém me soube dizer. Se me contares a verdade, aqui e agora, acaba-se o ódio. Confesso que, para mim, seria uma benesse não me ver obrigado a detestar-te, nunca mais.
O pai ficou calado, sempre a observar Tengo com o mesmo olhar inexpressivo. Porém, no fundo daqueles pequenos ninhos de andorinha vazios, Tengo quase podia jurar que vislumbrava uma luzinha acesa.
– Eu não sou ninguém – disse Tengo. – Tens razão. Não passo de um destroço atirado ao mar, durante a noite, e deixado a flutuar à deriva. Estendo o braço, mas não encontro nada a que me agarrar. Ergo a voz, mas ninguém me responde. Não tenho ligação a nada. No fim de contas, o pai é a única família que conheço; tirando o pai, não tenho mais ninguém. No entanto, o pai tem um segredo e nunca mo quis contar. Nesta cidade costeira, a tua memória, com os seus contínuos altos e baixos, vai-se diluindo à medida que o tempo passa. E o mesmo acontece em relação à minha verdade, também ela corre o risco de se perder. Sem a verdade, não sou nada, nem nunca poderei ser ninguém, no futuro. Tu próprio o disseste.
– O conhecimento é um valioso património social – disse o pai num tom monocórdico, como se estivesse a ler. A sua voz, porém, diminuíra um pouco de intensidade, como se alguém por trás dele tivesse esticado o braço e baixado o volume. – Esse património deve ser acumulado em abundância e usado com a máxima prudência. Há que transmiti-lo de forma profícua às gerações vindouras. Por isso, a NHK necessita das taxas de toda a gente...
Este homem fala como se repetisse uma espécie de mantra, pensou Tengo. Ao recitar aquela ladainha, havia conseguido proteger-se até ali. Tengo sentia que tinha obrigação de quebrar aquele obstinado talismã. Tinha de fazer sair o homem real, escondido por detrás daquela barreira.
Tengo interrompeu a lengalenga do pai.
– Que género de pessoa era a minha mãe? Para onde é que ela foi? O que aconteceu?
O pai calou-se de repente. Deixou de recitar a encantação e refugiou-se no silêncio.
– Estou cansado de viver no ódio, sempre a guardar rancor. Estou cansado de viver sem amar ninguém. Não tenho um único amigo. Nem um para amostra. E, acima de tudo, nem sequer sou capaz de gostar de mim próprio. Sabes porquê? Porque não sou capaz de amar os outros. Só quando uma pessoa ama e é amada, aprende a gostar de si própria. Entendes o que estou a dizer? Quem não ama alguém não pode amar-se a si mesmo. Não estou a dizer que a culpa seja tua. Agora que penso nisso, talvez não passes de uma vítima. Provavelmente, também não sabes o que significa uma pessoa amar-se a si própria. Estou enganado?
O pai remetia-se ao silêncio. Os lábios cerrados. A sua expressão não permitia ver se entendera o que Tengo acabara de dizer. Este afundou-se na cadeira e calou-se, por seu turno. Uma rabanada de vento entrou pela janela aberta, fez oscilar as cortinas descoloridas sob o efeito do sol e agitou as pétalas delicadas das flores. Depois escapuliu-se pela porta que ficara aberta e fugiu para o corredor. O cheiro a maresia intensificou-se. Misturado com o chiar das cigarras, ouvia-se o som produzido pelo roçar das agulhas dos pinheiros.
Tengo continuou num tom mais calmo:
– Volta e meia, tenho uma visão. É sempre a mesma, desde que me lembro. Creio que não se trata propriamente de uma visão, mas sim de um fragmento da vida real, e que ainda hoje recordo. Tenho um ano e meio e estou ao lado da minha mãe. Um homem jovem abraça-a. E esse homem não é o pai. Quem ele possa ser, não sei, mas o certo é que tu não apareces na imagem. Ignoro por que razão, mas esta cena está gravada na minha mente e não consigo apagá-la.
O homem não disse nada. Porém, os seus olhos viam claramente uma coisa diferente, que não estava ali. Os dois tornaram a remeter-se ao silêncio. Tengo prestou atenção ao vento, que se levantara de repente. O que poderia o pai estar a escutar, não sabia.
– Importavas-te de me ler qualquer coisa? – perguntou o pai num tom formal, após um longo silêncio. – A minha vista deteriorou-se ao ponto de já não me permitir ler. Sou incapaz de fixar os olhos nas letras durante muito tempo. Os livros estão naquela prateleira. Escolhe um ao teu gosto.
Tengo levantou-se e passou os olhos pela lombada dos volumes alinhados. Eram, na sua maioria, romances clássicos. Havia a coleção completa de Dabosatsu – Toge6, mas Tengo não se sentia com disposição para ler ao seu pai um romance antigo em que se empregava um vocabulário arcaico.
– Se achares bem, gostaria de te ler a história da cidade dos gatos – disse Tengo. – É de um livro que eu trouxe para ler na viagem.
– A história da cidade dos gatos – repetiu o pai, saboreando as palavras. – Se não te der muito trabalho, gostaria que ma lesses.
Tengo deu uma olhadela ao relógio de pulso.
– Não dá trabalho nenhum. Ainda falta muito tempo para a hora do comboio. É uma história com o seu quê de bizarro, aviso já. Não sei até que ponto irás gostar.
Tengo sacou o livro do bolso e começou a ler «A Cidade dos Gatos» em voz alta. O pai escutava a história atentamente, sentado no cadeirão ao lado da janela, sem mudar de posição. Tengo lia
devagar, articulando bem as palavras; a meio, fez duas ou três pausas para recuperar o fôlego. De cada uma dessas vezes, aproveitou para observar o pai, sem que conseguisse, no entanto, perceber qualquer tipo de reação. Não saberia dizer se ele estava a apreciar a leitura. Quando acabou de ler o conto, o pai deixou-se estar quieto, com os olhos cerrados, sem fazer o mínimo movimento. Parecia adormecido, mas não estava. Simplesmente, mergulhara fundo no mundo do relato, e demorou um bom bocado a sair de lá. Tengo esperou, dando mostras de toda a paciência do mundo. A luz da tarde enfraquecera e em redor começaram a aparecer os primeiros sinais do crepúsculo. O vento proveniente do mar continuava a agitar os ramos dos pinheiros.
– Haverá televisão na cidade dos gatos? – perguntou o pai. Era a vertente profissional a falar mais alto.
– Bom, a história passa-se na Alemanha, em meados dos anos trinta. Nessa altura, ainda não havia televisão, apenas rádio.
– Quando estive na Manchúria, nem sequer rádio tínhamos. Nem rádio, nem emissoras, nada. Quase não chegavam lá os jornais e, quando os recebíamos, eram de há quinze dias. Não tínhamos que comer, e mulheres era coisa que também não havia. De vez em quando, víamos lobos. Parecia que estávamos no fim do mundo.
Durante alguns momentos, permaneceu calado, parecendo cismar em qualquer coisa. O mais provável era estar a rememorar os seus tempos de colono na Manchúria, e a vida dura que ali levara, quando jovem. Todavia, as recordações não tardaram a ficar envoltas em névoa, engolidas pelo vazio. Graças às mudanças de expressão do pai, Tengo conseguia entrever toda essa atividade mental.
– A cidade foi construída pelos gatos? Ou foram os seres humanos que a mandaram erguer, em tempos que já lá vão, e os gatos depois assentaram ali arraiais? – perguntou o pai olhando pelos vidros da janela, como se estivesse a falar consigo mesmo. No entanto, a pergunta parecia ter sido dirigida a Tengo.
– Não sei – respondeu Tengo. – Imagino que terá sido mandada construir pelos homens, há muito tempo. Por qualquer motivo, estes desapareceram, e passou a ser habitada pelos gatos. Se calhar, houve alguma epidemia e morreram todos.
O pai fez um gesto de concordância com a cabeça.
– Quando se forma um vazio, algo tem de o preencher. É o que fazemos todos.
– É o que fazemos todos.
– Claro – afirmou o pai.
– Qual é o género de vazio que tens de preencher?
O pai pôs um ar sério. As compridas sobrancelhas baixaram e cobriram-lhe os olhos. Quando falou, foi em tom de sarcasmo.
– Tu não podes compreender.
– Não posso compreender – repetiu Tengo.
As narinas do pai incharam. Uma das sobrancelhas mostrava-se ligeiramente arqueada. Era a expressão que costumava adotar quando estava descontente com qualquer coisa.
– Se precisas que te explique, nesse caso não irás entender nunca, por mais explicações que te dê.
Tengo semicerrou os olhos e procurou ler a expressão estampada no rosto do pai. Ela não tinha por hábito falar de uma maneira tão estranha, recorrendo a uma linguagem tão sugestiva. Expressava-se de um modo pragmático e utilizava sempre palavras concretas. Dizer apenas o necessário quando era necessário: tinha sido sempre esse, por sistema, o modelo de conversa seguido pelo pai. No seu rosto, porém, Tengo não conseguia discernir nenhuma expressão percetível.
– De acordo. Tu preenches um vazio qualquer – disse Tengo. – Muito bem, e quem é que vai preencher o vazio deixado por ti?
– Tu – declarou o pai, lacónico, ao mesmo tempo que erguia o dedo indicador e o apontava para Tengo. – Não é óbvio? Tenho preenchido o vazio que alguém criou, e agora chegou a tua vez de preencheres o vazio criado por mim. Como se fosse um trabalho em cadeia.
– Tal como aconteceu aos gatos, quando lhes tocou ocuparem a cidade depois de os humanos terem desertado.
– Isso mesmo, está perdida, tal como a cidade – disse o pai. – Em seguida, ficou a olhar distraidamente para o indicador que brandira na direção de Tengo, como se olhasse para qualquer coisa estranha e fora de contexto.
– Está perdida, como a cidade. – Tengo repetiu as palavras do pai.
– A mulher que te deu à luz já não está em parte nenhuma.
– Não está em parte nenhuma. Está perdida, como a cidade. Quer dizer com isso que morreu?
O pai não lhe deu resposta.
Tengo suspirou.
– E quem é o meu pai?
– É apenas um espaço vazio. A tua mãe juntou os trapinhos com um vazio e pôs-te neste mundo. Eu preenchi esse vazio.
Após ter pronunciado aquelas palavras, o pai fechou os olhos e calou-se.
– Juntou-se com um vazio?
– Sim.
– E o senhor criou-me? É o que está a querer dizer-me?
– Já to disse, não foi? – retorquiu o pai, depois de ter pigarreado uma vez, em tom solene, como se estivesse a explicar uma coisa óbvia a uma criança com dificuldades de aprendizagem. – Se é preciso que te expliquem para perceberes, quer dizer que nunca conseguirás entender a mensagem, por mais que to expliquem.
– Eu nasci de um vazio? – perguntou Tengo.
Não obteve resposta.
Tengo juntou as mãos sobre os joelhos e olhou de frente para o pai. Então pensou: Este homem não é um invólucro vazio. Não é uma simples casa desabitada. É um homem de carne e osso que sobrevive como pode, algures neste pedaço de terra à beira-mar plantado, carregando às costas um espírito tacanho e obstinado, bem como as suas recordações sombrias. Vê-se obrigado a conviver com esse vazio, que se vai expandindo de forma progressiva dentro dele. Neste momento, o vazio e a memória lutam ainda entre si, mas, queira ou não queira, o vazio engolirá por completo a memória que lhe resta. É uma questão de tempo. Será esse vazio, o tal que ele tem de enfrentar, o mesmo vazio que me gerou?
À medida que entardecia, misturado com o vento que soprava por entre as copas dos pinheiros, Tengo pensou ter ouvido o rumor longínquo do mar. Mas talvez não passasse de uma alucinação auditiva.
6 Obra escrita por Kaizan Nakazato e publicada em 41 volumes, entre 1913 e 1941. É a saga de um samurai um tanto louco, de seu nome Tsuke Ryunosuke, e decorre durante a Era Edo. O título pode ser traduzido como O Caminho do Grande Buda. Shinobu Hashimoto realizou em 1966 um filme (A Espada da Maldição), pensado como o primeiro de uma trilogia, baseado nessa obra. (N. das T.)
9
AOMAME
O preço a pagar pela graça divina
Assim que Aomame entrou, o Bola-de-Bilhar virou-lhe as costas e fechou a porta rapidamente. O quarto encontrava-se às escuras. Os pesados reposteiros estavam corridos e todos os candeeiros tinham sido apagados. Apenas um raio de luz se infiltrava por uma fresta da janela, o que só servia para acentuar a escuridão.
Os seus olhos demoraram a habituar-se à obscuridade, como acontece quando se entra numa sala de cinema ou num planetário. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foi o mostrador de um relógio digital colocado sobre uma mesinha baixa. Os dígitos verdes indicavam que eram sete e vinte da tarde. Segundos depois, deu pela presença de uma cama de dimensões impressionantes encostada à parede, mesmo à sua frente. Em comparação com o quarto ao lado, era um pouco mais pequeno; ainda assim, não deixava de ser bastante maior do que um banal quarto de hotel.
Em cima da cama estava uma massa escura, formando uma mancha semelhante ao contorno de uma colina. Aomame demorou um certo tempo até perceber que a silhueta indefinida correspondia ao corpo de uma pessoa deitada. Enquanto isso, o perfil não conheceu a mais pequena alteração. Não se distinguia qualquer indício de vida. A respiração mal se ouvia. O único som que lhe chegava aos ouvidos era o ténue zunido do ar condicionado que saía através do tubo de ventilação junto ao teto. Contudo, não era o corpo de um morto. O comportamento do Bola-de-Bilhar dava a entender que ali se encontrava um ser humano com vida.
Tratava-se de uma pessoa bastante corpulenta. Um homem, possivelmente. Ainda que Aomame não conseguisse ver com clareza, parecia estar virado para o outro lado. A pessoa em questão não se enfiara na cama, antes se estendera com a cara virada para baixo, em cima da colcha por desfazer. Dir-se-ia um animal de grande porte a descansar no fundo de uma caverna para recuperar do desgaste físico provocado por um ferimento.
– Está na hora – disse o Bola-de-Bilhar dirigindo-se à sombra. A voz deixava transparecer uma certa tensão, que até aí ainda não se manifestara.
Nada indicava que o homem tivesse ouvido. O montículo escuro sobre a cama permaneceu em silêncio. De pé, o Bola-de-Bilhar aguentava firme diante da porta, sem alterar a sua postura. No quarto reinava um silêncio absoluto. Tão absoluto que dava até para ouvir o som de alguém a engolir em seco. Só então Aomame se deu conta de que tinha sido ela própria a produzir esse som. Com o saco de desporto na mão direita, fez como o Bola-de-Bilhar e deixou-se ficar à espera de que acontecesse alguma coisa. Os dígitos no relógio eletrónico mudaram para as 7:22 e depois para as 7:23.
Às tantas, a silhueta deitada em cima da cama agitou-se e começou a mexer-se – teve um ligeiro estremecimento, que se transformou num movimento nítido. Tudo indicava que aquela pessoa se encontrava profundamente adormecida. Ou então mergulhada num estado parecido com o sono. Os músculos despertaram, a metade superior do corpo ergueu-se e, passado um momento, deu mostras de ter recuperado a consciência. A sombra sentou-se direita na cama, com as pernas cruzadas. É um homem, sem dúvida, pensou Aomame.
– Está na hora – repetiu o Bola-de-Bilhar.
Aomame ouviu o homem respirar fundo. Era um suspiro enorme e sonante, subindo à tona lentamente, oriundo de um poço fundo. A seguir, ouviu-se uma inspiração, impetuosa e inquietante como um vendaval soprando por entre as árvores de uma floresta. Esses dois ruídos, tão diferentes na sua natureza, repetiam-se alternadamente. Depois o ciclo recomeçava, separado por um longo silêncio. Aquela cadência, carregada de significado teve o condão de deixar Aomame angustiada. Sentiu-se como se estivesse a aventurar-se por um território que lhe era estranho. Uma profunda fossa oceânica, por exemplo, ou a superfície de um asteroide desconhecido: um lugar ao qual seria possível chegar, mas de onde seria impossível regressar.
Os seus olhos tinham dificuldade em habituar-se à escuridão. Conseguia ver até certo ponto, mas, passado um limite, não alcançava mais nada. De momento, distinguia a sombria silhueta do homem, e pouco mais. Não sabia para onde tinha a cara virada nem se estava a olhar para algo em concreto. Sabia apenas que o homem era dotado de uma corpulência acima da média e que os seus ombros oscilavam suavemente, mas com movimentos amplos, ao ritmo da respiração. Uma respiração normal, porém. Melhor dizendo, tinha uma maneira de respirar que se revelava imbuída de uma função e de um fim especiais, empregando para o efeito o corpo inteiro. Ela percebeu isso pelo modo como o diafragma e as omoplatas se dilatavam e se contraíam, em movimentos amplos. Outra pessoa qualquer não podia respirar assim, com aquela intensidade toda. Era uma técnica respiratória que só poderia ser adquirida através de um treino longo e rigoroso.
O Bola-de-Bilhar mantinha-se junto de Aomame, conservando uma postura firme e atenta. Tinha as costas direitas e o queixo para dentro. Ao contrário do homem que estava deitado, a respiração era superficial e acelerada. Procurava ocultar a sua presença, enquanto permanecia ali à espera de que aquela sequência de exercícios respiratórios chegasse ao fim. Devia ser um ritual diário, destinado a estimular as funções corporais. Aomame não teve outro remédio senão aguardar que ele acabasse com aquilo. Talvez se tratasse de um qualquer processo indispensável para acordar de vez.
Por fim, aquela forma de respirar parou, como acontece quando uma grande máquina cessa aos poucos o seu programa de funcionamento. O intervalo entre cada respiração foi aumentando de forma progressiva, até que ele expirou longamente, como se quisesse expulsar todo o ar que tinha dentro dele. Um silêncio profundo abateu-se de novo sobre o quarto.
– Está na hora – anunciou pela terceira vez o Bola-de-Bilhar.
A cabeça do homem mexeu-se devagar. Parecia estar a olhar na direção do outro.
– Podes retirar-te – ordenou ele. Tinha voz de barítono, clara e profunda.
O Bola-de-Bilhar fez uma pequena reverência no meio da escuridão e saiu dali tal como havia entrado, sem qualquer movimento desnecessário. A porta fechou-se. Aomame ficou sozinha no quarto com o homem.
– Lamento que esteja tão escuro – desculpou-se o homem. O mais provável era dirigir-se a Aomame.
– Não me faz diferença – respondeu ela.
– É necessário que assim aconteça – observou ele num tom suave. – Mas não te preocupes. Não te farei mal.
Aomame assentiu com a cabeça. Depois, lembrando-se de que se encontravam às escuras, disse alto qualquer coisa como «compreendo». A sua voz dava a sensação de estar mais ríspida e aguda do que era costume.
O homem ficou a olhar para Aomame na obscuridade durante algum tempo. Ela tinha a noção de estar a ser observada com uma intensidade fora do vulgar. Mais do que olhar para ela, o verbo adequado seria «inspecionar». Aquele homem parecia capaz de obter uma vista integral de cada centímetro do seu corpo, de cima a baixo. Sentiu-se como se ele, ato contínuo, lhe tivesse arrancado a roupa, deixando-a totalmente despida. O seu olhar não se ficava ao nível da pele, prolongava-se pelos músculos, pelas entranhas, até ao útero. Este homem consegue ver nas trevas. Vê para além do que os olhos veem.
– As coisas veem-se melhor no escuro – disse o homem, como se lesse o pensamento de Aomame. – Mas, se uma pessoa ficar demasiado tempo às escuras, torna-se difícil regressar ao mundo da luz terrestre. Há que parar num ponto determinado.
A seguir, tornou a sujeitar Aomame a uma nova inspeção. O seu olhar não traduzia qualquer desejo sexual. O homem limitava-se a fitá-la como se ela fosse um objeto. Como o tripulante de um navio passando ao largo de uma ilha, interessado apenas em contemplar os seus contornos. Porém, aquele não era um passageiro normal. Ele procurava adivinhar tudo sobre a ilha. A prolongada exposição a um olhar tão cortante e impiedoso fez com que Aomame sentisse, como nunca, até que ponto o seu corpo era imperfeito. Normalmente, não sabia o que era experimentar na pele essa insegurança. Tirando o tamanho do peito, orgulhava-se do seu físico. Treinava todos os dias para o conservar em boa forma e bonito. Tinha músculos rijos e flexíveis, sem um grama de gordura a mais. No entanto, ao ser observada por aquele homem, o seu corpo deu-lhe a sensação de ser um mísero saco de carne fora de prazo.
O homem suspendeu o exame, como se lhe tivesse lido os pensamentos. A rapariga sentiu o olhar dele perder força de um momento para o outro. Era como se alguém se preparasse para regar as plantas com uma mangueira e outra pessoa viesse por trás e fechasse a torneira.
– Poderias fazer-me o favor de abrir um tudo-nada os cortinados? – perguntou o homem com grande calma. – Calculo que um pouco de luz dê jeito para o teu trabalho.
Aomame pousou o saco no chão, aproximou-se da janela, puxou primeiro o cordão para abrir os pesados cortinados e, depois, a cortina de renda branca. A vista noturna de Tóquio derramou-se pelo interior do quarto. A Torre de Tóquio toda iluminada, as luzes da autoestrada, os faróis dos automóveis em contínuo movimento, a claridade irradiada pelas janelas dos arranha-céus, os letreiros luminosos e cheios de cor que se viam nos telhados dos edifícios: o resultado daquela mescla de luzes, que constituía a iluminação típica das noites das grandes cidades, penetrou no quarto de hotel. A luz não era muito forte, tão-só uma claridade ténue que mal permitia distinguir os móveis que havia dentro do quarto. Aomame recebeu-a com uma sensação de familiaridade. De repente, apercebeu-se da necessidade absoluta que tinha daquelas luzes. E, contudo, aquela ínfima porção de luminosidade parecia demasiado forte para os olhos do homem. Sentado na cama com as pernas cruzadas, na posição de lótus, tapou a cara com ambas as mãos para se proteger.
– Está tudo bem? – perguntou Aomame.
– Não te preocupes – disse o homem.
– Deseja que cerre as cortinas um pouco mais?
– Não, deixa estar assim. Tenho um problema na retina. Demoro tempo a acostumar-me à luz. Daqui a nada ficarei melhor. Importas-te de esperar sentada?
Um problema na retina?, repetiu Aomame mentalmente. Na sua maioria, as pessoas que têm este tipo de problema correm o risco de ficar cegas. Contudo, o assunto não lhe dizia respeito. Ela não se encontrava ali para tratar da vista ao homem.
Enquanto o homem cobria o rosto com as mãos para se adaptar à luminosidade que entrava pela janela, Aomame sentou-se no sofá e observou-o de frente. Chegara a sua vez de examinar o homem ao pormenor.
Tratava-se de um homem grande. Não se podia dizer que fosse gordo, mas apenas grande. Alto e espadaúdo. Parecia forte, além do mais. Que ele era um indivíduo encorpado, já o tinha ouvido da boca da velha senhora, mas nunca imaginara que pudesse ser tão grande. Claro que não havia nenhum motivo que impedisse o fundador de uma comunidade religiosa de ser assim corpulento. No espírito de Aomame surgiu a imagem das meninas de dez anos que aquele homem tão possante tinha violado. Imaginou-o nu, montado sobre o corpo de uma menina pequena. Com dez anos, elas nem sequer lhe poderiam oferecer resistência. Até uma mulher adulta teria dificuldade em resistir.
O homem vestia uma espécie de calças de fato de treino finas, com elásticos em baixo, e uma camisa tipo túnica de mangas compridas, de um tecido ligeiramente lustroso, parecido com seda. A camisa era larga e tinha os dois botões de cima desapertados. Tanto as calças como a camisa eram brancas ou cor de creme muito clara. Não sendo propriamente um pijama, tratava-se de uma vestimenta folgada, confortável, para usar em casa, ou então a indumentária ideal para quando uma pessoa planeia ficar sentada à sombra de uma palmeira, algures num país do Sul. Os pés estavam descalços e eram enormes. Os seus ombros, largos como um muro de pedra, fizeram-lhe lembrar um praticante de artes marciais com muitos anos de experiência.
– Obrigado por teres vindo – disse o homem. Esperara que Aomame acabasse de o examinar.
– É o meu trabalho. Vou onde é preciso – retorquiu Aomame num tom despojado de emoção. Contudo, ao dizer aquilo, sentiu-se como uma prostituta respondendo a uma chamada. Talvez devido à sensação de ele a ter despido com aquele olhar penetrante.
– Que sabes acerca de mim? – perguntou-lhe o homem, sempre a tapar o rosto com as mãos.
– Quer dizer, o que sei acerca da sua pessoa? É isso?
– Isso mesmo.
– Praticamente nada – respondeu Aomame, medindo bem as palavras. – Para começar, nem sequer fui informada do seu nome. Sei apenas que é o líder de uma comunidade religiosa em Nagano ou Yamanashi. Disseram-me ainda que tem um problema físico qualquer, e que eu talvez o pudesse ajudar nesse particular.
Ele abanou a cabeça várias vezes e afastou as mãos da cara. Só então enfrentou Aomame.
O homem tinha o cabelo comprido. Uma cabeleira longa e abundante, que chegava quase até aos ombros. Viam-se bastantes cabelos brancos no meio dos escuros. A sua idade devia andar entre os quarenta e muitos e os cinquenta e cinco anos. O nariz, imponente e espantosamente afilado, ocupava uma parte considerável da cara. Fazia lembrar as montanhas dos Alpes que aparecem nas fotografias dos calendários, com a sua base ampla e a transpirar dignidade por todos os poros. A primeira coisa que chamava a atenção era precisamente o nariz, para mais em contraste com os olhos, afundados no rosto. Era difícil adivinhar o que diabo estaria ele a ver por detrás daquelas pupilas. A sua cara era larga e volumosa, a condizer com o resto do corpo. Estava barbeado na perfeição e não apresentava cicatrizes nem qualquer sinal visível. Tinha feições harmoniosas, que lhe davam um ar sereno e inteligente, mas, ao mesmo tempo, havia nele qualquer coisa de peculiar, porventura de invulgar, que não inspirava confiança. Era o género de rosto que, à primeira vista, fazia hesitar o seu interlocutor. Por ter o apêndice nasal daquele tamanho. Em resultado disso, o rosto perdia o equilíbrio das suas linhas, e provavelmente era isso que provocava insegurança nas pessoas. Ou talvez a culpa fosse daquele par de olhos que emitiam um brilho calmo e gélido, semelhante a um glaciar primitivo. Ou ainda, talvez fosse por causa da impressão cruel deixada pelos lábios finos, feitos para vomitar palavras inesperadas a todo e qualquer momento.
– Mais alguma coisa? – quis saber ele.
– Tirando isso, pouco mais sei. Disseram-me que viesse preparada para lhe fazer estiramentos. Os músculos e as articulações são a minha especialidade. Não preciso de saber grande coisa acerca do estatuto nem da personalidade dos clientes.
Tal qual uma puta, pensou Aomame.
– Entendo o que me dizes – afirmou o homem num tom grave. – No meu caso, porém, irás precisar de algumas explicações adicionais.
– Sou toda ouvidos.
– As pessoas chamam-me «Líder», mas a verdade é que quase nunca apareço em público. Até mesmo os nossos seguidores, na sua maior parte, apesar de viverem em comunidade e partilharem o mesmo espaço, não conhecem a minha cara.
Aomame anuiu com a cabeça.
– A ti, deixo-te ver o meu verdadeiro rosto. Porque seria impossível que me tratasses na mais completa escuridão ou com os olhos vendados. Além de que também é preciso observar as boas maneiras.
– Não estamos a falar de um «tratamento» – sublinhou Aomame com sangue-frio. – São simples estiramentos musculares. Não tenho autorização para proceder a um tratamento médico. O que faço é obrigar os músculos a alongarem-se, e falo daqueles músculos que não costumam ser usados muitas vezes no dia a dia, de modo a impedir a deterioração das suas capacidades corporais.
O homem pareceu esboçar um ligeiro sorriso, mas talvez não passasse de uma ilusão de ótica, provocada pelo tremor dos músculos faciais.
– Tenho perfeita consciência disso. Usei a palavra «tratar» por uma questão de conveniência. Não te preocupes. Referia-me ao facto de estares a testemunhar o que muita gente, regra geral, nunca vê. Só queria que tivesses isso bem presente.
– Avisaram-me para não falar do assunto com ninguém – referiu Aomame, indicando a porta que dava para o quarto ao lado. – Por isso, não precisa de se preocupar. Tudo o que eu escutar ou observar neste quarto não sairá daqui. O meu trabalho consiste em estar em contacto com o corpo de muitas pessoas. Mesmo que o senhor se encontre numa situação especial, para mim é apenas mais um cliente com problemas musculares. Em si, a parte muscular é a única coisa que me interessa.
– Ouvi dizer que foste devota das Testemunhas, em miúda.
– Não por escolha minha. Simplesmente, fui educada assim, nessa fé. Há uma grande diferença.
– É muito diferente, sem dúvida – concordou o homem. – Acontece, porém, que as pessoas sentem uma grande dificuldade em distanciar-se das imagens que lhes são inculcadas durante a infância.
– Para o bem e para o mal – acrescentou Aomame.
– A doutrina das Testemunhas não se assemelha em nada à da comunidade a que eu pertenço. A meu ver, as religiões que se fundamentam numa ideia do fim do mundo são todas uma farsa, em maior ou menor grau. Na minha opinião, o fim é uma coisa que depende de cada indivíduo. Posto isto, a Associação das Testemunhas é uma comunidade extraordinariamente forte. Apesar de não ter um historial digno de registo, os seus membros já foram postos à prova, e de que maneira. Além disso, o número de crentes nunca deixou de aumentar, de forma constante. Temos muito que aprender com eles.
– O que provavelmente só vem mostrar até que ponto são intolerantes. Sendo uma comunidade pequena e fechada, revela-se capaz de resistir ao exterior com outra firmeza.
– É possível que tenhas razão no que dizes – admitiu o homem. A seguir, fez uma breve pausa. – Em todo o caso, agora não estamos aqui para discutir religião.
Aomame não disse nada.
– Quero que saibas que o meu corpo apresenta diversas particularidades – afirmou o homem.
Sentada na cadeira, Aomame aguardou em silêncio que ele prosseguisse.
– Como te disse antes, os meus olhos não aguentam a luz intensa. Este sintoma apareceu-me há uns anos; até então, nunca tive problemas de maior. Essa foi a principal razão por que deixei de aparecer em público, diante das pessoas. A maior parte do dia, passo-o enfiado num quarto escuro.
– Lamento, mas não o posso ajudar a resolver os problemas de visão. Disse-lhe há bocado, e volto a repetir: os músculos são a minha especialidade.
– Estou perfeitamente ciente disso. E, como não podia deixar de ser, consultei uma quantidade de especialistas de renome, que realizaram os mais variados exames. No entanto, todos eles foram unânimes em afirmar que, de momento, não há nada que possam fazer a esse respeito. Parece que as minhas retinas se encontram deterioradas, sendo a causa desconhecida. Os sintomas progridem lentamente. A este ritmo, é possível que perca a visão dentro de pouco tempo. Como tu muito bem frisaste, não se trata de um problema muscular. Seja como for, começarei a enumerar os vários problemas físicos, de cima a baixo. Depois, logo se verá o que podes e o que não podes fazer.
Aomame concordou com a cabeça.
– Os músculos do meu corpo enrijecem com muita frequência – continuou o homem. – Duros que nem uma pedra, literalmente, durante horas a fio. Quando tal sucede, não tenho outro remédio senão pôr-me na horizontal e ficar assim até que me passe. Não sinto dores. Simplesmente, os músculos do corpo ficam tesos, deixando-me paralisado, ao ponto de nem um só dedo conseguir mexer. A única coisa que consigo mover, graças ao meu esforço, são os globos oculares. Sucede-me uma ou duas vezes por mês.
– Há algum indício de quando está para acontecer?
– Primeiro, fico com espasmos. Começo a sofrer pequenas convulsões em diferentes músculos. A coisa dura uns dez ou vinte minutos. A seguir, os músculos morrem por completo, como se alguém desligasse o interruptor. Nesses dez ou vinte minutos desde que recebo o aviso, preciso de me deitar em qualquer sítio. Tenho de me esconder de tudo e de todos e aguardar até que termine a paralisia, tal como um barco procura refúgio numa baía para se resguardar de um temporal. Durante esse tempo, mesmo paralisado, a minha consciência está desperta. Diria até que se encontra mais desperta do que nunca.
– Diz que não sente qualquer dor física?
– É como se deixasse de ter sensações. Não sinto nada, ainda que experimentem picar-me com uma agulha.
– E foi ao médico por causa disso?
– Consultei uma data de médicos e fiz a ronda dos especialistas mais qualificados. Mas o que todos me dizem, no fim de contas, é que sofro de uma doença rara, sem precedentes, que a medicina atual não consegue debelar. Experimentei tudo o que havia: medicina chinesa, osteopatia, acupuntura e moxibustão, massagens, tratamentos termais... sem qualquer resultado digno de relevo.
Aomame enrugou ligeiramente a testa.
– Limito-me a proceder à estimulação das funções normais do corpo, que fazem parte do quotidiano. Não me parece que um problema grave como este se inclua no âmbito das minhas capacidades.
– Sei isso perfeitamente. Pela parte que me toca, procuro apenas explorar todas as possibilidades ao meu alcance. No caso de o teu método não me proporcionar melhoras, estás isenta de responsabilidade. Basta que faças o que normalmente fazes. Quero ver como reage o meu corpo.
Aomame imaginou aquele corpo enorme, deitado e imóvel, num lugar escuro, como um animal em plena hibernação.
– Quando foi a última vez que teve os sintomas da paralisia?
– Há cerca de dez dias – respondeu o homem. – Por outro lado, se bem que ainda não saiba como te dizer, há mais uma coisa que talvez eu deva mencionar.
– Pode contar-me o que quiser.
– Durante todo o tempo que dura esse estado de aparente morte muscular, tenho uma ereção contínua.
Aomame franziu ainda mais o sobrolho.
– Ou seja, está a dizer-me que o seu membro permanece ereto durante horas?
– Isso mesmo.
– Mas não sente rigorosamente nada.
– Não – respondeu o homem. – Nem tenho desejo sexual. Fico duro, só isso. Rijo que nem uma pedra. Igual ao resto dos músculos.
Aomame abanou ligeiramente a cabeça, enquanto procurava devolver à sua cara a expressão que costumava ter.
– No que a isso diz respeito, temo bem que também não possa fazer grande coisa. Trata-se de um problema que se afasta bastante das minhas competências.
– É-me difícil falar sobre o assunto, e tu se calhar não estás interessada em ouvir, mas, apesar disso, importas-te que continue a contar a minha saga?
– Continue, à vontade. Guardarei os seus segredos.
– Durante esse intervalo de tempo, tenho relações com raparigas.
– Raparigas?
– Vivo rodeado por algumas mulheres. E quando entro nesse estado de paralisia, elas fazem turnos, põem-se sobre mim e têm relações sexuais comigo. Eu não sinto nada, tão-pouco experimento prazer sexual. A única coisa é que ejaculo, várias vezes. Com cada uma delas.
Aomame guardou silêncio.
– São três mulheres ao todo, melhor dizendo, três raparigas. Todas adolescentes. Deves estar a perguntar a ti própria por que motivo tenho essas jovens por perto e o porquê de elas copularem comigo.
– Faz parte de algum ritual religioso?
O homem respirou fundo, sentado de pernas cruzadas em cima da cama.
– Consideram o tal estado de paralisia uma graça divina, na medida em que se trata de uma espécie de condição sagrada. Por isso, quando chega o momento, elas vêm até mim e unem o seu corpo ao meu. Tentam conceber um filho. O meu sucessor.
Aomame olhava para o homem, sem dizer nada. Por sua vez, também ele se calou.
– Ou seja, quer dizer que a finalidade dessas raparigas é ficarem grávidas? Conceber um filho seu nessas circunstâncias? – perguntou Aomame.
– Precisamente.
– E quer dizer que o senhor, durante o tempo em que se encontra paralisado, ejacula três vezes, uma vez com cada uma delas?
– Assim acontece.
Aomame teve consciência de se encontrar numa situação terrivelmente complicada. Estava prestes a liquidar aquele homem e a enviá-lo para o outro mundo. Apesar disso, era a ela que o indivíduo confessava os estranhos segredos que o seu corpo albergava.
– Não compreendo bem. Qual a natureza concreta do problema? Uma ou duas vezes por mês, os músculos do seu corpo paralisam por completo. Quando tal acontece, as suas três noivas aparecem e fazem sexo. É certo que não se trata propriamente de uma coisa normal, no sentido que damos à palavra, mas...
– Não são as minhas noivas – interrompeu o homem. – Elas cumprem a sua função de sacerdotisas. Ter relações sexuais comigo faz parte das suas obrigações.
– Obrigações?
– É, por assim dizer, uma missão que lhes foi atribuída. O dever delas é ficarem grávidas do meu sucessor.
– Quem determinou isso? – quis saber Aomame.
– É uma longa história – disse o homem. – O problema é que, devido a isso, o meu corpo caminha de forma irremediável para a sua destruição.
– Alguma delas ficou grávida?
– Até agora, nenhuma ficou grávida. Talvez isso não seja possível, uma vez que ainda não têm regras menstruais. No entanto, esperam alcançar o milagre através da graça divina.
– Nenhuma ficou grávida. Ainda não tiveram as regras – repetiu Aomame. – E o seu corpo caminha para a destruição.
– A duração da paralisia começa a ser cada vez mais longa e os episódios mais frequentes. Esta história toda teve início há coisa de sete anos, mas, na sua origem, acontecia apenas de dois em dois ou de três em três meses. Agora dá-me isto uma ou duas vezes por mês. Quando a paralisia termina, apodera-se do meu corpo uma dor brutal e fico esgotado. Tenho de viver com essa dor e com esse esgotamento durante quase uma semana. É como se me cravassem uma quantidade de agulhas grossas por todo o corpo. Tenho enxaquecas fortíssimas, bem como uma sensação de permanente cansaço. Custa-me dormir. Nenhum medicamento alivia o meu sofrimento.
O homem suspirou fundo. Depois retomou o fio à meada.
– A segunda semana é infinitamente melhor, comparando com a primeira. Mesmo assim, a dor nunca chega a desvanecer-se. Durante o dia, sou atacado por dores violentas que assolam o meu corpo como se fossem ondas, e a cena repete-se por mais de uma vez. Quase não consigo respirar. Os órgãos deixam de funcionar como deve ser. As minhas articulações chiam como uma máquina com falta de óleo lubrificante. A carne do meu corpo é devorada e parece quase que me chupam o sangue. Sinto isto enquanto acontece. Ao mesmo tempo, porém, o que me devora não é um cancro nem um parasita. Passei por toda a espécie de exames possíveis e imagináveis; os médicos nunca conseguiram encontrar qualquer problema. Disseram que eu tenho saúde para dar e vender. A medicina moderna não consegue explicar o meu tormento. É o preço que tenho de pagar pela graça divina.
Este homem parece estar a caminho da decadência, pensou Aomame. Contudo, olhando para ele, não se vislumbravam quaisquer sinais daquilo que o consumia. Parecia ser um homem infinitamente robusto e, mais do que isso, preparado para suportar dores intensas. Apesar de tudo, Aomame pressentia que o corpo dele estava a caminho da destruição. Este homem encontra-se muito doente, mas desconheço qual a doença que o mina. Porém, a menos que eu intervenha agora mesmo e o mate com as minhas próprias mãos, está condenado a ser lentamente destruído e não tardará a enfrentar a morte. Fatal como o destino.
– Não posso impedir que eles avancem – disse o homem, como se lesse o pensamento de Aomame. – Serei consumido por inteiro, o meu corpo ficará vazio e terei uma morte dolorosa. Eles limitar-se-ão a abandonar o meu invólucro, da mesma forma que se abandona um veículo usado quando deixou de ser útil.
– Eles?! – exclamou Aomame. – A quem se refere?
– Refiro-me a quem me devora a carne e me suga a vida desta maneira – respondeu o homem. – Mas não interessa. Só te peço que, na medida do possível, contribuas para mitigar esta dor real. É necessário que assim seja, mesmo sem recorrer à solução drástica. Esta dor torna-se muito difícil de suportar. Por vezes, em certas circunstâncias, intensifica-se de tal modo que mais parece ter raízes no centro da Terra. É o género de dor que ninguém pode compreender. Uma dor lancinante e singular que me arrebatou muitas coisas, mas que, em troca, me proporcionou muitas outras. Como é evidente, isso não me alivia a dor, tão-pouco evita a destruição.
A seguir, fez-se um silêncio profundo.
Por fim, Aomame dirigiu-se ao homem.
– Bem sei que corro o risco de estar sempre a bater na mesma tecla, mas continuo a pensar que as minhas técnicas não poderão ajudá-lo a resolver o seu problema. Sobretudo tratando-se do preço a pagar pela graça divina.
O Líder corrigiu a sua postura e olhou para Aomame com aqueles olhinhos que pareciam esconder um glaciar no fundo das órbitas. Depois abriu os lábios, finos e alongados.
– Não, tenho a certeza de que podes fazer qualquer coisa por mim. Uma coisa que só tu podes fazer.
– Espero que tenha razão.
– Sei que tenho razão – afirmou o homem. – Sei isso e muito mais. Se não te importas, vamos começar. Faz aquilo que costumas fazer.
– Vou tentar – disse Aomame. A sua voz soou tensa e oca. O que costumo fazer, pensou ela.
10
TENGO
A proposta foi rejeitada
Pouco antes das seis, Tengo despediu-se do pai. Enquanto o táxi não chegava, ficaram os dois sentados diante da janela, calados. Tengo estava absorto nos seus próprios pensamentos, ao passo que o progenitor olhava fixamente para a paisagem através do vidro, com uma expressão carregada. O Sol começara a pôr-se e o azul-claro do céu ia-se tornando cada vez mais escuro.
Tinha muitas perguntas mais, mas sabia de antemão que iriam ficar sem resposta, mesmo que as fizesse. Bastava-lhe observar os lábios selados do pai para compreender isso. Parecia determinado a não dizer mais nada, motivo pelo qual Tengo não voltou à carga. Quando é preciso uma pessoa perder-se em explicações para a outra entender, então isso quer dizer que não vai entender a mensagem, por mais que lhe expliquem. Como o pai costumava dizer.
– Vão sendo horas de me ir embora – anunciou Tengo. – Hoje revelaste-me uma quantidade de coisas. Utilizaste expressões arrevesadas e muitas vezes difíceis de compreender, mas creio que, à tua maneira, foste honesto e sincero.
Tengo olhou de frente para o pai, sem que conseguisse vislumbrar qualquer mudança na sua expressão.
– Ainda tenho umas quantas perguntas para colocar. Sei, no entanto, que te causariam sofrimento, por isso não resta outra alternativa senão deitar-me a adivinhar o resto a partir do que me contaste. Provavelmente, não és o meu pai biológico. Pelo menos, parto desse princípio. Se bem que desconheça os pormenores, sou levado a pensar que assim é. Se me enganar, agradeço que o digas.
O pai não respondeu.
Tengo continuou:
– Se o meu raciocínio estiver certo, ficarei aliviado. O que não quer dizer que eu te deteste, visto que, como tive oportunidade de te dizer antes, não sinto necessidade de te odiar. Criaste-me como um filho, apesar de não existir entre nós qualquer vínculo sanguíneo. Quando muito, só tenho de estar agradecido. Infelizmente, a nossa relação de pai e filho nunca foi lá muito boa, mas esse é outro problema.
O pai continuava a contemplar a paisagem, sem dizer palavra. Como uma sentinela procurando não perder de vista os sinais de fumo enviados por uma tribo de bárbaros, numa colina distante. Tengo experimentou olhar para o sítio onde recaía o olhar do pai, sem conseguir ver qualquer sinal de fumo. A única coisa que estava à sua frente, na linha do horizonte, era o pinhal, entretanto tingido com as cores do crepúsculo.
– Lamento, mas não há praticamente nada que eu possa fazer. Só desejar que o processo que criou esse vácuo dentro de ti não seja demasiado doloroso. Já deves ter sofrido bastante nesta vida. De certeza que amaste profundamente a minha mãe, da maneira que pudeste. É a sensação que tenho. Acontece, porém, que ela partiu. Não sei se o outro era o meu pai biológico ou um homem qualquer, e não te vejo muito inclinado a explicar-me melhor essa história. Em todo o caso, ela afastou-se de ti e abandonou-me em pequeno, ainda bebé. Se calhar, decidiste criar-me na esperança de que, sabendo-me contigo, um dia voltasse. O certo é que nunca voltou. Nem para junto de ti, nem para junto de mim. Deve ter sido doloroso aceitares esse estado de coisas. Imagino que seja tão difícil como viver numa cidade deserta. Apesar de tudo, criaste-me nessa cidade. Para preencher o vazio.
O rosto do pai não acusou nenhuma mudança. Tengo ignorava se ele tinha compreendido o que ficara dito; mais, se ouvira sequer as suas palavras.
– Pode ser que esteja enganado, e quem sabe se não será melhor assim. Para os dois. No entanto, desenvolver este tipo de raciocínio permite-me encaixar várias coisas na minha cabeça. Ajuda a dissipar umas quantas dúvidas.
Um bando de corvos rasgou os céus, grasnando. Tengo olhou para o relógio de pulso. Estava na hora de se ir embora. Levantou-se da cadeira, aproximou-se do pai e pousou a mão sobre o ombro dele.
– Adeus, papá. Voltarei um dia destes.
Quando Tengo se virou pela última vez, já com a mão na maçaneta da porta, ficou surpreendido ao ver uma lágrima cair pelos olhos do pai. A luz fluorescente do candeeiro incidia em cheio sobre ela, fazendo-a refulgir com um brilho prateado, meio baço. Sem dúvida que o pai devia ter chamado a si a força das poucas emoções que lhe restavam para conseguir derramar aquela lágrima. Esta resvalou lentamente pela face do pai e foi cair em cima do joelho. Tengo abriu a porta e saiu do quarto. Apanhou um táxi que o transportou até à estação e partiu no primeiro comboio.
O comboio expresso de Tateyama para regressar a Tóquio ia bastante cheio, e a viagem revelou-se ainda mais animada do que à ida. Os passageiros eram, em grande parte, famílias que regressavam da praia. Vê-los trouxe à memória de Tengo o tempo em que andava na primária. Nunca participara em excursões, e viagens em família eram uma experiência desconhecida. Durante as festas do Obon7 e as férias do Ano Novo, o pai não costumava fazer nada, a não ser deixar-se ficar estirado em casa, de papo para o ar, a dormir. Nessas alturas, fazia lembrar um aparelho enferrujado e desligado da corrente.
Assim que se sentou no lugar que lhe estava destinado e se dispôs a ler o resto do livro, apercebeu-se do seu esquecimento: tinha-o deixado ficar no quarto do pai. Soltou um suspiro, mas depois reconsiderou e até ficou contente: talvez fosse melhor assim, pois não estava com cabeça para grandes leituras. Além de que A Cidade dos Gatos era um livro que pertencia por direito ao pai e ficava melhor no quarto dele do que nas suas mãos.
Do lado de lá da janela, a paisagem desfilava em sentido inverso ao da viagem de ida. O litoral sombrio e deserto, que seguia as montanhas até ao infinito, deu lugar a uma zona industrial costeira, mais vasta. Muitas fábricas continuavam a laborar, apesar de já ser noite. Recortada na escuridão, uma floresta de chaminés vomitava fogo vermelho, como serpentes exibindo a sua comprida língua. Os camiões iluminavam o asfalto com os seus faróis potentes. O mar, do outro lado, estava escuro como um manto de lama.
Quando chegou a casa, eram quase dez da noite. A caixa do correio estava vazia. Ao abrir a porta, o apartamento pareceu-lhe mais deserto do que nunca. Era o mesmo vazio que deixara para trás nessa manhã. A camisa que tinha despido e ficara caída no chão, o computador desligado, a cadeira giratória com a marca deixada pelo peso do seu corpo, restos de borracha espalhados sobre a secretária. Bebeu dois copos de água, despiu-se e foi direitinho para a cama. O cansaço apoderou-se dele, e dormiu de um sono só, profundo, como desde há muito tempo não acontecia.
Quando acordou, na manhã seguinte, já depois das oito, sentiu-se uma pessoa nova. Foi um despertar agradável, sabendo os músculos dos braços e das pernas flexíveis, preparados para receber os estímulos do dia. Era a mesma sensação que costumava ter em pequeno, ao abrir um novo manual escolar no início de cada trimestre. Mesmo sem compreender a matéria, ficava com um lamiré e tinha acesso ao desafio que consistia em adquirir conhecimentos novinhos em folha. Foi à casa de banho e barbeou-se. Secou a cara com uma toalha, aplicou a loção para depois da barba e tornou a ver-se ao espelho. Reconheceu que era, de facto, uma pessoa nova.
Tudo o que acontecera no dia anterior parecia-lhe um sonho, do princípio ao fim. Os factos, apesar de nítidos, na realidade davam a impressão de não ter acontecido: apresentavam zonas de contornos indefinidos, um pouco irreais, por assim dizer. Apanhara o comboio, fora até à cidade dos gatos e regressara. Por sorte, e ao contrário do que acontecera ao herói do conto, conseguira apanhar o comboio de regresso a casa sem qualquer problema. E tudo indicava que os acontecimentos vividos naquele lugar tinham provocado uma mudança radical na sua pessoa.
A realidade, bem entendido, não mudara nem um bocadinho. A contragosto, continuava a aventurar-se por um terreno perigoso, fértil em problemas e enigmas. A situação estava a tomar um rumo totalmente inesperado, e ele não fazia a mínima ideia do que poderia acontecer a seguir. Apesar disso, palpitava-lhe que, de uma forma ou de outra, haveria de ultrapassar os perigos que o esperavam.
Cheguei finalmente ao ponto de partida, pensou Tengo. Não podia afirmar, em boa verdade, que os factos se tivessem apresentado com absoluta clareza, mas o que o seu pai lhe dissera, bem como a atitude dele, permitira-lhe ficar com uma vaga noção das suas origens. A «visão» que durante tanto tempo lhe causava perplexidade e o atormentava não era uma mera alucinação desprovida de significado. Muito embora desconhecesse até que ponto essa imagem era real, provavelmente era a única informação que a mãe lhe deixara, e, para todos os efeitos, constituía os alicerces da sua vida. Uma vez esclarecido esse assunto, Tengo sentia que lhe tinham tirado um peso de cima. E só então se apercebeu do fardo enorme que carregara durante todo aquele tempo.
Seguiram-se duas semanas marcadas por uma paz inusitada e uma grande tranquilidade, a fazer lembrar o mar em dias de bonança. Tengo dava aulas quatro dias por semana e dedicava o resto da semana à escrita. Ninguém se pôs em contacto com ele. Não recebeu qualquer informação nova sobre o caso do desaparecimento de Fuka-Eri nem ficou a saber se o romance A Crisálida de Ar continuava a vender-se bem. Por outro lado, não estava especialmente interessado nisso. O mundo podia avançar ao seu próprio ritmo. Se acontecesse qualquer coisa, alguém se lembraria de o avisar.
Agosto chegou ao fim e veio setembro. Enquanto preparava o café da manhã, Tengo perguntou a si mesmo, sem pronunciar as palavras, até quando durariam aqueles dias de calmaria. Se expressasse os seus pensamentos em voz alta, correria o risco de ser ouvido por algum espírito maléfico com ouvidos de tísico, quando o que ele mais desejava era ver prolongada aquela quietude. Mas, para não variar, as coisas não acontecem em conformidade com os nossos desejos. E, pior do que isso, o mundo parecia saber perfeitamente o que ele não desejava.
Quando Tengo ouviu o telefone, passava das dez da manhã. Deixou tocar até que, ao sétimo toque, lá estendeu o braço, pegou no auscultador e atendeu.
– Posso ir aí agora – disse alguém em voz baixa. Que Tengo soubesse, só havia uma pessoa no mundo capaz de fazer perguntas assim, sem qualquer entoação interrogativa. Ao fundo ouvia-se um anúncio debitado por altifalantes e o ruído dos tubos de escape.
– Onde é que estás agora? – perguntou Tengo.
– À porta de uma loja que se chama Marusho.
Do edifício onde morava até ao tal supermercado não deviam ser mais de duzentos metros de distância. Ela estava a ligar-lhe da cabina pública que ali existia.
Instintivamente, Tengo olhou em redor.
– Não me parece que seja boa ideia vires até cá. Podem estar a vigiar o apartamento. Além disso, deram-te como desaparecida.
– Podem estar a vigiar o apartamento. – Fuka-Eri repetiu as palavras de Tengo, como um papagaio.
– Sim – acrescentou ele. – Ultimamente, estão a acontecer muitas coisas estranhas à minha volta. Relacionadas com A Crisálida de Ar, imagino eu.
– Alguém ficou danado.
– Provavelmente. Devem estar piursos contigo, e isso deixa-os um bocado irritados comigo, também. Pelo facto de eu ter reescrito a obra.
– A mim não me rala nada – disse Fuka-Eri.
– A ti não te rala nada. – Agora chegara a vez de ser Tengo a papaguear a frase dela. Pelos vistos, era uma prática contagiosa. – O quê?
– Que te estejam a vigiar.
Por momentos, ficou sem palavras.
– Bom, talvez a mim isso não me seja indiferente – disse Tengo, por fim.
– É melhor estarmos juntos – acrescentou Fuka-Eri. – Unir forças.
– Sonny e Cher – disse Tengo. – O duo mais forte.
– Mais forte o quê.
– Esquece. São coisas minhas... – afirmou Tengo.
– Vou ter contigo.
No momento em que Tengo se preparava para acrescentar qualquer coisa, a ligação foi cortada. Toda a gente tinha a mania de lhe desligar o telefone na cara. O efeito devia ser o mesmo de quando aparecia alguém em cena com um machado e cortava as cordas de uma ponte suspensa.
Dez minutos mais tarde, Fuka-Eri apareceu com um saco de plástico do supermercado na mão. Vestia uma camisa azul de mangas compridas às riscas e calças de ganga justas. A camisa, que era de homem, secara de qualquer maneira e não estava passada a ferro. A tiracolo levava um saco de lona. Também usava uns óculos de sol enormes, destinados a esconder as suas feições, mas não se podia dizer que cumprissem essa função. Pelo contrário, só serviam para atrair as atenções.
– Pensei que o melhor era termos comida de sobra – anunciou Fuka-Eri, transferindo o conteúdo do saco para o frigorífico. Quase todos os produtos comprados eram pré-cozinhados, daqueles que se destinavam a ser aquecidos no micro-ondas. Havia ainda bolachas de água e sal e queijo, maçãs, tomates. Sem esquecer vários produtos enlatados.
– Onde está o micro-ondas – perguntou a rapariga, percorrendo a cozinha minúscula com o olhar.
– Não tenho micro-ondas – respondeu Tengo.
Fuka-Eri franziu o sobrolho, ficou a matutar naquilo, mas não se manifestou. A ideia de um mundo sem micro-ondas parecia ser difícil de encaixar na sua cabecinha.
– Vou ficar aqui – disse ela, como se anunciasse um facto consumado.
– Até quando? – quis saber Tengo.
Fuka-Eri abanou a cabeça. Queria dizer que não sabia.
– Que se passou com o teu esconderijo?
– Se acontecer qualquer coisa, não quero estar sozinha.
– Achas que vai acontecer alguma coisa?
Fuka-Eri não respondeu.
– Já te disse que este lugar não é seguro – afirmou Tengo. – Tenho a impressão de estar a ser vigiado. Não te sei dizer ao certo quem são essas pessoas, mas...
– Não existe nenhum lugar seguro – asseverou Fuka-Eri. A seguir, semicerrou os olhos de forma sugestiva e beliscou suavemente os lóbulos das orelhas. Tengo não fazia ideia do que pretendia ela dizer com aquela linguagem corporal.
– Nesse caso, é indiferente o sítio onde te encontres – alvitrou Tengo.
– Não existe nenhum lugar seguro – tornou a dizer Fuka-Eri.
– Se calhar, tens razão – disse Tengo, resignado. – A partir de um determinado nível, deixa de haver diferença entre os graus de perigo. Bom, a verdade é que tenho de ir trabalhar daqui a pouco.
– Continuas a dar aulas na mesma escola.
– Sim.
– Eu fico aqui – afirmou Fuka-Eri.
– Tu ficas aqui – confirmou Tengo. – É melhor. Não saias de casa e, se tocarem à porta, não respondas. Não atendas o telefone.
Fuka-Eri anuiu em silêncio.
– A propósito, que é feito do Professor Ebisuno?
– Ontem revistaram as instalações da Vanguarda.
– Queres dizer que a polícia revistou a sede da Vanguarda, quando lá foi à tua procura?
– Nunca lês os jornais.
– Não, não leio os jornais – repetiu Tengo. – Nos últimos tempos, confesso que não me apetece lê-los, e por isso não estou a par das informações mais recentes. No entanto, se é como dizes, os membros da seita devem ter ficado agastados.
Fuka-Eri fez que sim com a cabeça.
Tengo deixou escapar um longo suspiro.
– E de certeza que hão de estar ainda mais enfurecidos do que antes. Como acontece às vespas, quando são atacadas no seu ninho.
Fuka-Eri entortou ligeiramente os olhos e deixou-se ficar calada. Devia estar a imaginar um enxame de vespas enfurecidas, saindo do cortiço.
– É provável.
– E já soubeste alguma coisa dos teus pais?
Fuka-Eri negou com a cabeça. Ainda não se sabia nada.
– Em todo o caso, o pessoal da seita anda todo enxofrado – observou Tengo. – Caso a polícia venha a descobrir que o teu desaparecimento também não passa de uma farsa, ficará igualmente danada contigo. E comigo, já agora, por te dar cobertura sabendo a verdade.
– Precisamente por isso é que temos de unir forças – disse Fuka-Eri.
– Acabas de dizer precisamente por isso?
Fuka-Eri assentiu.
– Utilizei mal a expressão – perguntou ela.
Tengo negou com a cabeça.
– Não, longe disso... É que me soou espontâneo, mais nada.
– Se for muita maçada, posso ir para outro sítio – disse Fuka-Eri.
– Podes ficar aqui – acedeu Tengo. – Quase aposto que não tens mais para onde ir.
Fuka-Eri fez um movimento breve e preciso com a cabeça, em sinal de concordância.
Tengo foi ao frigorífico buscar chá de cevada frio e bebeu-o de um trago.
– Confesso que um enxame de vespas furiosas não seria bem-vindo, mas, a ti, recebo-te com muito gosto.
Fuka-Eri ficou a olhar atentamente para Tengo durante algum tempo e depois afirmou:
– Pareces diferente.
– Em que sentido?
Fuka-Eri retorceu os lábios num ângulo estranho; a careta demorou pouco e a boca voltou à posição normal.
– Não sei explicar.
– Não precisas de explicar – disse Tengo. Se não consegues compreender sem uma explicação, isso quer dizer que não entenderás a mensagem, por mais que te expliquem.
Antes de sair do apartamento, Tengo deu as suas instruções a Fuka-Eri:
– Quando eu telefonar, deixarei tocar três vezes, desligo e torno a ligar. Nessa altura, atendes. De acordo?
– De acordo – respondeu Fuka-Eri, repetindo «deixo tocar três vezes, desligas e voltas a ligar, eu atendo o telefone». Parecia que estava a ler e, ao mesmo tempo, a traduzir em voz alta um epitáfio inscrito numa lápide antiga.
– Não te esqueças, olha que é importante – advertiu-a Tengo.
Fuka-Eri assentiu duas vezes.
Tengo acabou de dar a última aula, voltou à sala de professores e preparou-se para regressar a casa. A rapariga que trabalhava na secretaria apareceu e anunciou que estava um homem chamado Ushikawa para falar com ele. Disse aquilo quase em tom de desculpa, como uma mensageira bem-intencionada encarregada de transmitir uma mensagem desagradável. Tengo esboçou um sorriso de orelha a orelha e agradeceu-lhe. Não fazia qualquer sentido deitar as culpas para cima da mensageira.
Ushikawa encontrava-se à espera dele na cafetaria que havia junto à entrada; tinha aproveitado entretanto para tomar um café com leite. Tengo não imaginava bebida que combinasse menos com o sujeito. Ao observá-lo no meio dos estudantes, todos eles jovens e animados, era caso para dizer que a sua singular presença dava ainda mais nas vistas. Parecia que a força da gravidade, os graus de concentração atmosférica e de refração da luz se revelavam diferentes na zona onde o homem se encontrava. Com efeito, visto de longe, aparentava ser portador de más notícias. A cafetaria enchia-se de gente nos intervalos das aulas, mas o certo é que naquela mesa com lugar para seis pessoas não havia mais ninguém sentado. Seguindo o seu instinto natural, os estudantes evitavam Ushikawa, da mesma forma que os antílopes se mantêm afastados dos lobos.
Tengo pediu um café ao balcão e foi sentar-se à frente de Ushikawa, que devia ter acabado nesse preciso instante de comer um bolo com creme. Sobre a mesa havia um invólucro de papel amachucado e o outro tinha migalhas de bolo ao canto da boca. Escusado será dizer que o bolo recheado de creme também não era um alimento que alguém se lembrasse de associar à figura daquele homem.
– Há quanto tempo, senhor Kawana – cumprimentou Ushikawa, levantando-se ligeiramente da cadeira para saudar Tengo. – Desculpe aparecer assim do pé para a mão, outra vez.
Tengo dispensou as saudações da praxe e foi direito ao assunto.
– Calculo que tenha vindo em busca de uma resposta da minha parte. Quero dizer, a resposta à proposta avançada no outro dia...
– Admito que sim – retorquiu Ushikawa –, falando depressa e bem, é isso mesmo.
– Senhor Ushikawa, vamos lá ver se consigo que hoje seja um pouco mais concreto e vá direito ao cerne da questão. Diga-me lá, por favor, o que é que os senhores pretendem de mim, a troco dessa «bolsa»?
Ushikawa olhou cuidadosamente ao seu redor, mas não havia ninguém; além do mais, sendo a cafetaria um lugar excessivamente barulhento por natureza, não corriam perigo de que algum dos estudantes ouvisse a conversa.
– Muito bem. Estou disposto a fazer-lhe esse favor e a abrir o jogo – disse Ushikawa, inclinando-se para a frente e baixando o tom de voz. – O dinheiro é apenas um pretexto. De resto, também não se pode dizer que seja uma quantia por aí além, não lhe parece? O mais importante que o meu cliente lhe pode oferecer é a sua própria segurança. Por outras palavras, certificar-se de que nenhum mal lhe acontece. Isso podemos nós garantir.
– E em troca? – perguntou Tengo.
– Em troca, o que eles querem é que fique calado e que esqueça. Participou nesta história, mas fê-lo sem intenção e não sabendo onde se estava a meter. No fundo, é um simples soldado que obedece a ordens superiores. E, nesse sentido, não temos nada a apontar-lhe. Estamos dispostos a passar um pano sobre o assunto e a esquecer tudo. Este gesto representa um virar de página. Mais ninguém ficará a saber que foi você quem escreveu A Crisálida de Ar. Nunca teve e não mais terá nada que ver com esse livro. Queremos deixar as coisas neste pé. Penso que será uma solução do seu interesse, que me diz?
– Resumindo e concluindo, eu não sofrerei represálias – afirmou Tengo. – E aos outros implicados, também não lhes acontecerá nada de mal? É essa a mensagem que me está a querer transmitir?
– Bom, isso provavelmente será decidido case by case, como se diz em inglês, caso a caso – respondeu Ushikawa, evidenciando uma certa dificuldade em abordar o tema. – Visto não se tratar de uma decisão minha, não lhe posso dizer o que vai acontecer em concreto, mas penso que haverá medidas a tomar.
– E é bom não esquecer que possuem braços compridos e fortes.
– Isso mesmo. Muito longos e muito vigorosos, nunca é demais repeti-lo. Então, qual é a sua resposta?
– Definitivamente, não posso aceitar o vosso dinheiro.
Sem dizer nada, Ushikawa levou as mãos aos óculos, limpou as lentes cuidadosamente com um lenço que tirou da algibeira do casaco e voltou a pô-los. Parecia estar a querer dizer que existia algum tipo de relação entre o que havia escutado e a sua capacidade visual.
– Se bem depreendo, rejeita em definitivo a nossa oferta?
– Com efeito, assim é.
Através das lentes, Ushikawa observou Tengo como se estivesse diante de uma nuvem com um formato esquisito.
– E isso deve-se a quê? Na minha modesta opinião, não creio que seja um mau negócio para si.
– Aconteça o que acontecer, estamos todos no mesmo barco. Quando digo todos, falo das pessoas envolvidas na história. Está fora de questão que eu procure escapar sozinho.
– Espantoso! – exclamou Ushikawa, parecendo deveras admirado. – Não entendo nada. Talvez não devesse dizer isto, mas as outras pessoas estão positivamente a borrifar-se para si. A sério. Aproveitam-se de si e atiram-lhe uns trocos, à laia de compensação, mais nada. E, à pala disso, viu-se metido numa alhada das antigas. Se fosse eu, estaria a deitar fumo pelas orelhas. O meu amigo não; continua a defendê-los. Vem-me com uma conversa do género: «Está fora de questão que eu procure escapar sozinho», ou coisa que o valha! Põe-se a falar em abandonar o barco e não sei mais o quê... Não me entra na cabeça. Porquê?
– Um dos motivos é uma mulher chamada Kyoko Yasuda.
Ushikawa pegou no recipiente de café com leite frio, bebeu um gole e teve uma expressão de repugnância, como se lhe desse nojo.
– Kyoko Yasuda?
– Vocês sabem coisas acerca dela – afirmou Tengo.
Ushikawa ficou por momentos com a boca entreaberta. Parecia não fazer ideia do que ele estava a falar.
– Não, francamente, não sei nada dessa mulher. Juro. Quem é ela?
Tengo olhou-o em silêncio durante largos segundos, mas não foi capaz de ler fosse o que fosse no rosto do outro.
– Uma mulher que eu conheço.
– Não será, por acaso, uma pessoa com quem mantinha uma relação íntima?
Tengo não respondeu.
– O que pretendo saber é se lhe fizeram alguma coisa?
– Se nós lhe fizemos alguma coisa? Está a falar de quê? Claro que não lhe fizemos nada – replicou Ushikawa. – Eu não estou a mentir. Como acabo de lhe dizer, nada sei acerca dessa pessoa. Ora, não se pode fazer mal a alguém que não se conhece.
– Mas disse-me que tinham contratado um «investigador» competente, a fim de levar por diante uma aturada pesquisa sobre a minha pessoa. Descobriram que eu reescrevi a obra da Eriko Fukada. Sabem montes de coisas que dizem respeito à minha vida privada. Por isso, parece-me natural que também pudesse estar a par do meu relacionamento com a Kyoko Yasuda.
– Sim, é certo que contratámos um investigador competente, e que não é menos verdade que ele indagou ao pormenor vários aspetos da sua vida e, quem sabe?, talvez tenha descoberto a sua relação com essa tal senhora Yasuda, como diz. Agora, partindo do princípio de que essa informação existe, ainda não chegou até mim.
– Eu andava com ela, com a Kyoko Yasuda – confidenciou Tengo. – Encontravamo-nos uma vez por semana, às escondidas, visto ela ser uma mulher casada e com família. Um dia, porém, desapareceu de repente, sem me dizer nada.
Ushikawa utilizou o lenço com que limpara os óculos para enxugar levemente algumas gotas de suor acumuladas na ponta do nariz.
– Resumindo, o senhor Kawana pensa que nós teremos alguma coisa que ver com o desaparecimento dessa mulher casada? Engano-me?
– Se calhar, informaram o marido dos encontros que eu e ela mantínhamos.
Ushikawa franziu os lábios, formando um círculo que traduzia a sua perplexidade.
– Por que razão iríamos nós fazer uma coisa dessas?
Tengo fez força com os punhos sobre os joelhos.
– No outro dia, quando falámos ao telefone, disse-me uma coisa que me deu que pensar.
– Ó diabo, que lhe terei dito eu?
– Que, a partir de uma certa idade, a vida não é mais do que um contínuo processo de perda. As coisas importantes caem-nos das mãos, uma após a outra, como as pétalas de uma flor. As pessoas que amamos começam a desaparecer do nosso convívio. Uma conversa parecida com esta. Não se lembra?
– Sim, lembro-me. É verdade que lhe fiz um discurso do género, no outro dia. Mas, senhor Kawana, estava simplesmente a generalizar, convenhamos. Limitei-me a expressar a minha humilde opinião sobre o doloroso e difícil processo de envelhecimento. Não me referia em concreto à tal Yasuda, ou lá como se chama a dita senhora.
– Pois olhe que, aos meus ouvidos, soou-me como uma espécie de aviso.
Ushikawa abanou a cabeça com vigor, por várias vezes.
– De maneira nenhuma! Pode crer que não era um aviso, mas sim uma mera opinião pessoal. Acredite, a sério: nada sei acerca da senhora Yasuda. Desapareceu?
– Ainda não terminei. Também me disse que, se eu não prestasse atenção ao que me diziam, a minha atitude poderia acarretar consequências pouco agradáveis para as pessoas que me são próximas.
– Sim, é verdade, lembro-me de ter dito uma coisa assim.
– E por acaso não se trata de uma advertência?
Ushikawa guardou o lenço no bolso do casaco e suspirou.
– Pode ter soado como um aviso, é certo, mas acredite que estava apenas a generalizar. Olhe, Kawana, eu não sei nada acerca dessa tal senhora Yasuda. A começar pelo nome, que nunca tinha ouvido na vida. Juro-lhe pelo que me é mais sagrado.
Tengo voltou a examinar o rosto de Ushikawa. Vendo bem, talvez o homenzinho não soubesse nada acerca dela. A expressão de espanto que se lia na sua cara parecia genuína. Todavia, o simples facto de aquele tipo não saber de nada não significava que eles não lhe tivessem feito alguma coisa. Quando muito, tinham-se fechado em copas e não o haviam informado.
– Senhor Kawana, pode ser que me esteja a meter onde não sou chamado, mas todo o envolvimento com uma mulher casada acarreta os seus perigos. Você é um homem solteiro, jovem e saudável. Não me diga que não consegue ter as raparigas que quiser sem precisar de correr riscos dessa natureza... – Dito aquilo, Ushikawa lambeu com destreza as migalhas de bolo que tinham ficado agarradas aos cantos da boca.
Tengo deixou-se estar calado, sempre de olhos postos em Ushikawa.
– Para começar, as relações entre homens e mulheres não se podem explicar única e exclusivamente pelas leis da lógica. A monogamia implica numerosas contradições. Talvez pense que me estou a intrometer nos seus assuntos, no entanto, permita-me que lhe dê um conselho, para o seu bem. Se essa mulher o abandonou, o que tem a fazer é deixar tudo como está. Quero com isto dizer que há coisas neste mundo que é melhor nem saber. Por exemplo, o mesmo se aplica em relação à senhora sua mãe. Conhecer a verdade serviria apenas para o magoar nos seus sentimentos. Além disso, uma vez conhecida a verdade, não se podem enjeitar as responsabilidades que tal implica.
Tengo franziu o sobrolho e reteve a respiração durante alguns segundos.
– Sabe alguma coisa a respeito da minha mãe?
Ushikawa passou a língua ao de leve pelos lábios.
– Bom, digamos que estou ao corrente, até certo ponto. O investigador fez bem o seu trabalho e informou-se ao pormenor, de modo que, se desejar saber mais coisas, poderei dar-lhe as informações que tenho sobre a sua mãe, tal como as recebi. Pelo que julgo saber, o Tengo foi criado sem saber nada acerca dela. Todavia, entre os dados de que disponho poderá haver algum porventura mais difícil de digerir.
– Senhor Ushikawa – disse Tengo, puxando a cadeira para trás e pondo-se de pé. – Faça o favor de se ir embora, agora mesmo. Não quero prolongar esta conversa. E não torne a aparecer à minha frente. Prefiro que me façam «mal» a ter de negociar com uma pessoa da sua laia. Não preciso das suas «dádivas», nem das suas garantias de «segurança». A única coisa que desejo é nunca mais lhe pôr a vista em cima.
Ushikawa assistiu impávido e sereno àquela cena. Provavelmente, já ouvira o mesmo ou pior em muitas ocasiões. No fundo dos seus olhos vislumbrava-se uma luz ténue, que podia ser interpretada como um sorriso.
– Muito bem – disse Ushikawa. – De qualquer maneira, fico contente por ter obtido uma resposta da sua parte. Um «não» definitivo. A proposta foi pura e simplesmente rejeitada. Comunicarei esse facto aos meus superiores, visto que não sou mais do que um pau-mandado. Por ter respondido negativamente, isso não quer dizer que lhe vá acontecer alguma coisa de mal, ato contínuo. Só lhe estou a dizer que pode ser que venha a sofrer as consequências. Às tantas, a coisa pode ficar em águas de bacalhau. Oxalá assim aconteça. Porque uma coisa tenho de lhe confessar, Kawana, e é do fundo do coração que o digo: o senhor caiu-me no goto. Calculo que seja a última coisa que deseje ouvir, vinda da minha boca, mas não há nada a fazer, as coisas são o que são. Sou um sujeito difícil de compreender que lhe veio com uma conversa difícil de digerir. Ainda por cima, a minha aparência deixa muito a desejar, para não ir mais longe. Nunca me preocupei em agradar aos outros. Tenho muito pena se isso lhe desagrada, senhor Kawana, mas a verdade é que nutro bons sentimentos por si. E espero sinceramente que não lhe aconteça nada e que obtenha grandes feitos na sua vida.
Dito aquilo, Ushikawa concentrou a sua atenção nos dedos das mãos. Uns dedos curtos e rechonchudos, por sinal. Virou-os e revirou-os uma quantidade de vezes. A seguir, levantou-se.
– Bom, vou andando. Desculpe o incómodo que lhe causei. A propósito, esta deverá ser a última vez que nos vemos. E, sim, senhor Kawana, tratarei de satisfazer os seus desejos. Boa sorte. Adeus.
Ushikawa pegou na carteira de pele gasta que deixara em cima da cadeira e desapareceu por entre a multidão de estudantes que enchia a cafetaria. À medida que caminhava, os alunos afastavam-se de forma espontânea para os lados, abrindo alas. Como meninos pequenos numa aldeia confrontados com a figura ameaçadora de um traficante de seres humanos.
Tengo foi até à cabina pública instalada na entrada da escola e ligou para o seu apartamento. Preparava-se para deixar o telefone tocar três vezes antes de desligar, mas Fuka-Eri atendeu ao segundo toque.
– Tínhamos combinado que deixavas tocar três vezes e depois eu voltaria a ligar – disse Tengo quase sem forças.
– Esqueci-me – respondeu Fuka-Eri, como se não fosse nada com ela.
– Pedi-te para não te esqueceres.
– Queres experimentar outra vez – perguntou ela.
– Não, não é preciso. Agora já respondeste. Houve alguma novidade, durante a minha ausência?
– Ninguém telefonou. Não apareceu ninguém.
– Muito bem. Acabei o trabalho e estou quase a voltar para casa.
– Há bocadinho apareceu um corvo enorme e começou a grasnar lá fora, mesmo junto à janela... – disse Fuka-Eri.
– Aparece sempre à tardinha. Não te preocupes. É uma espécie de visita de cortesia. Conto estar em casa por volta das sete.
– É melhor despachares-te.
– Porquê? – quis saber Tengo.
– O Povo Pequeno anda agitado.
– O Povo Pequeno anda agitado – repetiu Tengo. – No meu apartamento, queres tu dizer?
– Não, noutro lugar.
– Noutro lugar.
– Muito longe.
– Mas consegues ouvi-los.
– Sim.
– E isso significa o quê? – perguntou Tengo.
– Vai acontecer uma anomalia.
– Uma anomalia – repetiu Tengo. Tardou um pouco em perceber o significado da palavra «anomalia». – Que tipo de anomalia?
– Isso não sei dizer.
– E é o Povo Pequeno que vai provocar essa anomalia?
Fuka-Eri negou com a cabeça. Um indício de que estava a abanar a cabeça chegou-lhe através do aparelho. Queria dizer que não sabia.
– É melhor regressares, antes que comece a trovejar.
– A trovejar?
– Se o comboio parar, ficaremos separados.
Tengo deu meia-volta e olhou pela janela. Estava um crepúsculo calmo, típico dos finais de verão, sem uma nuvem no céu.
– Não me parece que venha aí trovoada.
– Pela aparência nunca se sabe.
– Vou ver se me despacho – disse Tengo.
– É bom que te despaches – disse Fuka-Eri, e a seguir desligou.
Tengo saiu da escola, voltou a olhar para o céu limpo do lusco-fusco e, sem perder tempo, dirigiu-se para a estação em passo acelerado. Tinha as palavras de Ushikawa a ecoar na sua mente, como uma gravação em modo automático de repetição.
Quero com isto dizer que há coisas neste mundo que é melhor nem saber. Por exemplo, o mesmo se aplica em relação à senhora sua mãe. Conhecer a verdade poderia contribuir apenas para o magoar. Além disso, uma vez conhecida a verdade, não se podem enjeitar as responsabilidades que tal acarreta.
Além de que, algures em parte incerta, o Povo Pequeno anda desassossegado. Parece que tem alguma coisa que ver com a anomalia que está para acontecer. Neste momento, o céu apresenta-se completamente limpo, mas vá lá uma pessoa fiar-se nas aparências. Pode muito bem acontecer que comece a trovejar, que desate a chover e que o comboio interrompa a sua marcha. Tenho de voltar quanto antes para o apartamento. A voz da Fuka-Eri possui um estranho poder persuasivo.
«Temos de unir forças», tinha ela dito.
Um longo braço começava a estender-se. Temos de unir forças. Porque somos o duo mais forte que existe sobre a Terra.
The beat goes on.
7 Celebração estival budista em honra (e memória) dos defuntos. Tanto pode ocorrer em meados de julho, tradicionalmente, como em agosto, dependendo do calendário lunar utilizado. (N. das T.)
11
AOMAME
O bem é o equilíbrio em si mesmo
Aomame desenrolou sobre a alcatifa a esteira azul de ioga que levara consigo. A seguir, pediu ao homem que se despisse da cintura para cima. Ele levantou-se da cama e tirou a camisa. Sem ela, o corpo dele ficava ainda maior. O peito era robusto, mas sem um grama de gordura a mais e fortemente musculado. À primeira vista, parecia uma pessoa em toda a sua pujança física.
Tal como Aomame lhe indicou, ele deitou-se de barriga para baixo em cima da esteira. Aomame colocou-lhe os dedos no pulso e verificou as pulsações. Os batimentos cardíacos eram fortes e marcados.
– Pratica algum tipo de exercício diário? – perguntou Aomame.
– Não, nenhum em especial. Só a respiração.
– Só a respiração.
– Trata-se de uma respiração um tanto diferente da normal – retorquiu o homem.
– Como aquela que estava a praticar há bocado, no escuro? Pareceu-me ser uma respiração profunda e cadenciada, empregando todos os músculos do corpo.
O homem, sempre deitado de barriga para baixo, assentiu com um pequeno movimento de cabeça.
Aomame não se deixou convencer. Era evidente que o tal exercício respiratório requeria uma boa dose de força física. Contudo, perguntava a si própria como se explicava que ele conseguisse manter aquele corpo tão musculado e vigoroso graças apenas ao esforço de respirar.
– O que lhe vou fazer agora vai doer bastante – anunciou Aomame num tom desprovido de emoção. – Sem dor, os tratamentos não são eficazes. De qualquer maneira, posso sempre regular a intensidade da dor. Por isso, assim que lhe doer, diga, não se coíba e queixe-se à vontade.
O homem fez uma breve pausa e depois declarou:
– Ainda estou para conhecer uma dor que não tenha experimentado. – Havia um certo sarcasmo nas suas palavras.
– A dor não é agradável para ninguém.
– Mas o seu método revela-se mais eficiente quando vem acompanhado de dor, não é assim? Tratando-se de uma dor que faça sentido, posso suportá-la.
Aomame permitiu-se uma expressão de dúvida, à luz da ténue penumbra.
– Compreendo. Vamos lá experimentar.
Para não variar, começou pelos estiramentos das omoplatas. A primeira coisa em que reparou, ao tocar no corpo do Líder, foi na flexibilidade dos seus músculos. Estava diante de uma musculatura sã, de uma qualidade superior, em tudo diferente dos músculos cansados e rígidos dos habitantes da cidade que costumavam frequentar o ginásio. Ao mesmo tempo, porém, teve a forte sensação de que havia ali qualquer coisa de natureza desconhecida que constituía um obstáculo à sua fluidez. Da mesma forma que a corrente de um rio pode ficar temporariamente interrompida, por culpa dos troncos e do lixo acumulado que flutuam ao sabor das águas.
Apoiando-se no cotovelo e usando-o como alavanca, Aomame começou por puxar os ombros do homem o mais que pôde – primeiro devagar, depois utilizando uma certa força. Sabia que o homem estava a sentir dor. E não devia ser uma dor pequena. Qualquer outro ser humano se teria queixado e gemido devido à intensidade da dor, mas ele não. Aguentou em silêncio. O ritmo da sua respiração permaneceu igual e o homem nem sequer franziu o sobrolho. Tão-pouco alterou o ritmo da respiração. É dos que toleram bem a dor, pensou Aomame. Decidiu ver até onde conseguiria ele aguentar. Ao imprimir mais força, sem reservas de qualquer espécie, as articulações das omoplatas começaram a estalar com um ruído surdo. Uma reação parecida com a mudança de agulhas numa via-férrea. O homem susteve a respiração por momentos, mas não tardou a retomar o seu ritmo pausado.
– Os ombros estavam muito contraídos – explicou-lhe Aomame. – Penso que o problema ficou resolvido. Agora voltou ao normal.
Ao dizer aquilo, enterrou um dedo até à segunda falange por trás das omoplatas. Tratava-se de um músculo rígido por natureza e, uma vez eliminado o intumescimento, voltou rapidamente à normalidade.
– Parece que me sinto mais aliviado – murmurou o homem.
– Calculo o quanto lhe doeu...
– Nada que eu não pudesse aguentar.
– A verdade é que também sou bastante resistente, mas, se me fizessem o mesmo, confesso que teria desatado a gritar.
– Em muitos casos, o sofrimento pode ser mitigado ou compensado mediante um sofrimento de outra natureza. A sensibilidade é muito relativa e tem o que se lhe diga.
Aomame colocou a mão na omoplata esquerda, apalpou o músculo com a ponta dos dedos e verificou que se encontrava quase no mesmo estado que a omoplata direita. Agora é que quero ver até que ponto as coisas são relativas, disse para si mesma.
– Vou passar para o lado esquerdo. É provável que a dor seja tão intensa como a que sentiu no lado direito.
– Deixo isso nas tuas mãos. Não te preocupes comigo.
– Quer dizer-me para não estar com paninhos quentes?
– Sim, não há necessidade disso.
Aomame seguiu de novo o ritual e tratou pela mesma ordem os músculos e as articulações em torno da omoplata esquerda. Não esteve com contemplações, tal como ele lhe dissera. Assim que tomava a decisão de ir até ao fim, Aomame escolhia o caminho mais curto, sem vacilar. No entanto, o homem aceitou a dor com a maior frieza, reagindo ainda de uma forma mais natural do que acontecera com a omoplata esquerda, limitando-se a deixar escapar um estranho som gutural que pareceu vir do fundo da garganta. Muito bem, vamos lá ver até onde conseguirás aguentar, pensou Aomame.
Seguindo a mesma ordem, foi desintumescendo, um a um, os músculos do corpo dele. Tinha os pontos essenciais todos anotados numa lista gravada na sua mente. Bastou-lhe, por isso, seguir o programa de maneira sistemática. Como um vigilante competente e destemido quando anda em plena noite, de lanterna na mão, a patrulhar um edifício.
Todos os músculos do homem estavam «bloqueados», alguns mais do que outros. Dava a ideia de um território devastado por uma catástrofe: muitos canais de água encontravam-se obstruídos e os diques haviam ficado danificados. Naquele estado, qualquer pessoa dificilmente ficaria em condições de se pôr de pé – muitos nem sequer conseguiriam respirar de forma normal. A única coisa que sustinha o Líder era o seu físico imponente e a sua vontade de ferro. Apesar do seu comportamento desprezível, Aomame não pôde deixar de sentir um certo respeito profissional, ao ver-se diante daquele homem capaz de suportar em silêncio dores tão violentas.
Um por um, foi trabalhando aqueles músculos, forçou-os a mover-se, torceu-os e alongou-os até ao limite. De cada vez que o conseguia, as articulações produziam um estalido surdo. Ela tinha perfeita consciência de que a operação por si desencadeada se assemelhava à prática da tortura. No passado, encarregara-se de várias sessões de estiramento muscular frequentadas por atletas. Era tudo gente habituada a conviver com o sofrimento físico, mas, por mais resistentes que fossem aqueles homens, até os fortalhaços acabavam, em determinada altura, por soltar um berro – ou, pelo menos, não sendo um berro, um som parecido com um grito. Tinha havido mesmo quem urinasse de dor. Todavia, aquele homem que ali estava na sua presença não deixava escapar um único gemido. Era impressionante. Quando muito, o único sinal que indicava, até certa medida, a dor que ele sentia era a presença do suor que lhe escorria pela nuca. A própria Aomame começava a transpirar ligeiramente.
Demorou cerca de trinta minutos a distender os músculos das costas. Ao terminar, ela fez uma pausa e enxugou o suor da testa com uma pequena toalha.
É muito estranho, pensou Aomame. Vim até aqui com o fito de matar este homem. Trago comigo, dentro do saco, um picador de gelo especial. Basta-me apoiar a extremidade da agulha num lugar preciso da nuca, dar um toque na pega e tudo estará terminado. Ele deixará imediatamente de viver, irá desta para melhor sem saber o que lhe aconteceu. Em consequência disso, o seu corpo ficará liberto de todo e qualquer sofrimento. E, no entanto, eis-me aqui a gastar a minha energia, apostada em suavizar a dor que este homem sente no mundo real.
Provavelmente, faço-o porque é o trabalho que me foi encomendado. Quando tenho um dever a cumprir, não descanso enquanto não o levar até ao fim. Se tenho por missão assassinar uma pessoa, para mais sabendo eu que existe um bom motivo para tal, entrego-me a ela com todas as minhas forças.
Como é óbvio, não consigo executar as duas tarefas. Têm propósitos antagónicos e requerem ambas métodos incompatíveis. Por isso, só posso fazer uma das duas. Neste momento, procuro devolver os músculos do homem ao seu estado normal. Concentro-me no meu trabalho e é para ele que todas as minhas forças são canalizadas. O resto deixarei para quando terminar o que tenho em mãos.
Ao mesmo tempo, Aomame não conseguia reprimir a sua curiosidade. Aquela doença crónica, fora do comum; os músculos sãos e superiormente desenhados, terrivelmente obstruídos em consequência daquele mal; o seu corpo inquebrantável e a vontade indómita, que lhe permitiam aguentar a dor atroz a que chamava «o preço a pagar pela graça divina»... Tudo isso despertara o seu interesse. Que podia ela fazer por este homem? Sim, queria ver com os seus próprios olhos como responderia o corpo dele. À mera curiosidade profissional juntara-se uma outra, de índole pessoal. Além do mais, se o matar neste momento, terei de me ir embora. Se acabar o trabalho demasiado cedo, os dois guarda-costas que estão no quarto ao lado poderão suspeitar. Antes de entrar, disse-lhes que demoraria uma hora, no mínimo.
– Metade já está. Agora falta o resto. Importa-se de se virar de barriga para cima? – pediu Aomame.
O homem voltou-se pesadamente, como um grande animal aquático que tivesse dado à costa.
– A dor começa, de facto, a passar – disse o homem, após soltar um profundo suspiro. – Até à data, nenhum dos outros tratamentos surtiu efeito.
– Os seus músculos estão danificados – esclareceu Aomame. – Ignoro o motivo, mas o dano é bastante grave. Tenciono devolvê-los ao seu estado original, dentro do possível. Não é fácil e poderá revelar-se bastante doloroso. Mas, pelo menos, sempre há hipótese de conseguir resultados palpáveis. O senhor tem excelentes músculos e suporta bem a dor. Ainda assim, estamos a falar de um tratamento provisório, e não de uma solução que ataque o mal pela raiz. Enquanto não se identificar a causa, os mesmos efeitos continuarão a produzir-se.
– Bem sei. Cheguei a considerar a hipótese de recorrer à morfina, mas a verdade é que não quero abusar de drogas. A ingestão prolongada de medicamentos destrói as funções cerebrais.
– Vou prosseguir com o exercício – avisou Aomame. – Posso continuar como estava a fazer?
– Faz o teu trabalho e não te preocupes comigo – respondeu o homem.
Aomame esvaziou a mente e concentrou-se de corpo e alma na missão de trabalhar os músculos do homem. Na sua memória profissional tinha gravados todos os mecanismos musculares do corpo humano. Que funções desempenhava cada um dos músculos e a que ossos se encontravam ligados. Que caraterísticas possuíam e de que tipo de sensibilidade estavam dotados. A rapariga examinou por ordem os músculos e as articulações, abanou-os e pressionou-os com eficácia. À maneira de um inquisidor zeloso de um tribunal eclesiástico, pondo à prova todos os focos de dor no corpo da sua vítima.
Meia hora mais tarde, encontravam-se ambos banhados em suor e sem fôlego. Pareciam dois amantes após terem feito sexo com uma intensidade extraordinária. O homem permaneceu calado durante um bom bocado, e Aomame tão-pouco pronunciou uma palavra.
– Não quero exagerar – disse o homem por fim –, mas sinto-me como se todas as peças do meu corpo tivessem sido substituídas.
Aomame retorquiu:
– É possível que mais tarde, durante a noite, tenha uma pequena reação, uma espécie de réplica das dores. Se os músculos ficarem extremamente tensos, ao ponto de o fazer gritar de dor, não se preocupe. Amanhã de manhã voltará tudo à normalidade.
Se é que para ti existe amanhã, pensou Aomame.
O homem sentou-se de pernas cruzadas sobre a esteira e respirou fundo várias vezes, para comprovar a sua condição física.
– Pode dizer-se que tens realmente um dom especial – afirmou ele.
– O que eu faço – replicou Aomame, enquanto tratava de limpar o suor do rosto – é muito concreto. Na universidade, aprendi a constituição dos músculos, bem como tudo o que diz respeito às suas funções, e a prática permitiu-me melhorar esses conhecimentos. Aperfeiçoei a técnica, a partir de diferentes ângulos, e fui capaz de criar o meu método pessoal, baseado apenas em coisas lógicas e que fazem sentido aos meus olhos. A chamada «verdade» é, regra geral, algo que está à vista desarmada, que se pode comprovar. Ainda que, claro está, se faça acompanhar de uma boa dose de sofrimento.
O Líder abriu os olhos, olhou para Aomame com curiosidade e disse:
– Com que então, é nisso que acreditas.
– A que se refere? – perguntou Aomame.
– Que a verdade está à vista de todos e pode ser comprovada.
Aomame contraiu ligeiramente os lábios.
– Não estou a afirmar que isso seja assim para todas as verdades. Quer dizer que funciona assim no meu campo profissional. Claro que, se fosse igual a todos os níveis, as coisas seriam mais fáceis de compreender.
– Não, não me parece – contestou o homem.
– Porquê?
– A maioria das pessoas não anda à procura de verdades que se possam demonstrar. A verdade, em muitos casos, e como tu disseste, provoca um grande sofrimento. E quase ninguém quer sofrer. O que os homens precisam é de uma história bonita que lhes reconforte a alma e lhes faça sentir que a sua existência tem, ao menos, algum sentido. Precisamente por isso é que existe a religião.
O homem virou o pescoço um par de vezes antes de prosseguir.
– Se uma teoria, vamos chamar-lhe A, é capaz de fazer ver a um homem ou a uma mulher que a sua existência tem um significado profundo, para eles passa a ser verdadeira. Se a teoria B lhes mostra, por seu turno, que a sua existência é frágil e insignificante, será falsa. Não podia ser mais claro. No caso de alguém insistir em afirmar que a teoria B é a verdadeira, o mais certo é essa pessoa ser odiada, ignorada, podendo chegar-se ao extremo das agressões. Para eles, não faz sentido que exista um discurso lógico e provas concretas. As pessoas, de uma maneira geral, renegam toda e qualquer ideia de um equilíbrio delicado e ténue, procurando assim manter a sua sanidade mental.
– No entanto, o corpo humano, melhor dizendo, os corpos dos homens são, com pequenas diferenças, frágeis e insignificantes. Mais cedo ou mais tarde, todos se deterioram e acabam por desaparecer. É uma verdade incontornável, não lhe parece?
– Tens razão – concordou o homem. – Todos os corpos, em maior ou menor grau, são frágeis e insignificantes, e, fatalmente, estão condenados a desintegrarem-se e a desaparecer. Essa é uma verdade inquestionável. Mas agora pergunto, que acontecerá à alma das pessoas?
– Procuro pensar o menos possível na alma.
– Porquê?
– Porque não sinto necessidade de pensar nela.
– E por que razão, não me dirás? Pondo de lado a história de saber se tem ou não algum efeito prático, pensar nas questões que se prendem com a alma é indispensável ao ser humano, diria eu.
– Eu amo – declarou Aomame categoricamente.
Mas que diabo estou eu a fazer?, pensou Aomame. Eis-me a falar de amor com o homem que me preparo para assassinar daqui a nada.
Tal como o vento forma pequenas ondas sobre a superfície calma das águas, uma espécie de sorriso desenhou-se no rosto do homem, conferindo-lhe uma emoção natural que poderia ser confundida com empatia.
– Acreditas que o amor basta? – perguntou o homem.
– Acredito.
– Esse «amor» de que falas é dirigido a alguém em particular?
– Sim. É dirigido a um homem em concreto.
– Um corpo frágil e insignificante e um amor incondicional e sem sombra de pecado – sussurrou o homem. Em seguida, fez uma breve pausa. – Tudo indica que não precisas da religião para nada.
– É possível que não.
– Porque a tua própria maneira de ser é, em si mesma, uma religião.
– Há pouco disse-me que é a religião, e não tanto a verdade, a proporcionar às pessoas uma história bonita e agradável. Que acontece, nesse caso, com a organização religiosa a que preside?
– Para dizer a verdade, não considero o que faço integrado numa doutrina religiosa – afirmou o homem. – Limito-me pura e simplesmente a escutar vozes e a transmitir o que oiço às pessoas. Sou o único que consegue ouvir as vozes. É indiscutível que as oiço, essas tais vozes, mas não tenho maneira de provar que a mensagem seja uma verdade indiscutível. O que posso fazer, quando muito, é dar substância a umas quantas graças divinas.
Aomame mordeu ligeiramente o lábio e pousou a toalha no chão. Tinha vontade de lhe perguntar que graças divinas seriam essas, mas às tantas desistiu da ideia. Daria, por certo, uma história muito longa. Ainda tinha um trabalho fundamental pela frente.
– Importa-se de se deitar outra vez de barriga para baixo? Por último, vou aliviar-lhe os músculos do pescoço – disse Aomame.
O homem voltou a recostar o corpo sobre a esteira de ioga, oferecendo a nuca vigorosa aos olhos de Aomame.
– Em todo o caso, tens um magic touch, deixa-me que te diga – afirmou ele, utilizando a expressão inglesa, para toque mágico.
– Magic touch?
– Uns dedos que emanam uma energia extraordinária. Uma sensibilidade enorme que te permite sentir e localizar pontos específicos no corpo humano. Estamos a falar de uma qualidade única, concedida a um número muito reduzido de pessoas. Não é algo que se obtenha através da aprendizagem nem pela prática. Também eu possuo um talento especial, ainda que de natureza muito diferente. Porém, como acontece com todas as graças divinas, as pessoas têm de pagar um preço pelo dom recebido.
– Nunca tinha visto a questão por esse prisma – referiu Aomame. – Fiz os meus estudos, fartei-me de praticar e, à custa de muita disciplina, adquiri e consolidei esta técnica. Não se trata propriamente de uma coisa que me tenha sido «outorgada».
– Não vou entrar em discussões, mas é melhor que tenhas isto presente: os deuses dão e os deuses tiram. Mesmo que não tenhas consciência do que recebeste, os deuses lembram-se perfeitamente do que te concederam. Nunca se esquecem de nada. Esse teu talento, deves utilizá-lo com muito cuidado.
Aomame observou as suas mãos. Em seguida, colocou-as sobre a nuca do homem. Concentrou os seus sentidos nas pontas dos dedos. Os deuses dão e os deuses tiram.
– Já falta pouco. Este é o toque final – fez saber ela num tom seco, montada nas costas do homem.
Pareceu-lhe escutar um trovão ao longe. Levantou a cabeça e olhou pela janela. Não se via rigorosamente nada. O céu estava escuro, só isso. Pouco depois, tornou a ouvir o mesmo ruído. Um som que reverberou no silêncio do quarto.
– Está para chover – declarou o homem numa voz desprovida de emoção.
Com a mão na nuca do homem, Aomame procurou aquele ponto específico. A operação exigia dela uma capacidade de concentração absoluta. Fechou os olhos, susteve o fôlego e prestou atenção ao fluxo sanguíneo presente naquela parte do corpo. Com a ponta do dedo procurou ler a informação ao pormenor através dos dados transmitidos pela elasticidade cutânea e pela temperatura da pele. Tratava-se de um único ponto, e por sinal muito diminuto. Era fácil de encontrar em certas pessoas, mas havia outras em que se tornava difícil. Este homem a quem chamavam Líder incluía-se nitidamente na segunda categoria. Se quiserem um exemplo: era como andar à cata de uma moeda no meio de um quarto às escuras, sem fazer qualquer ruído. Contudo, Aomame não tardou a encontrá-lo. Colocou a ponta do dedo no sítio e gravou bem na cabeça a sensação tátil e a posição certa. Como se assinalasse um ponto de referência num mapa. Possuía essa capacidade rara.
– Deixe-se estar assim nessa posição – pediu Aomame, dirigindo-se ao homem que estava com a cara virada para baixo. A seguir, esticou a mão em direção ao saco de desporto e retirou o estojo rígido que continha o pequeno picador de gelo.
– Só preciso de encontrar uma zona no pescoço onde o fluxo está interrompido – referiu ela com grande calma. – Não me é possível eliminar a tensão desse ponto recorrendo apenas à força dos dedos. Se conseguir desbloquear essa contratura, aliviarei sensivelmente a dor que sente. Para isso, tenho de colocar uma simples agulha de acupuntura nesse ponto concreto. É uma zona delicada, mas não se preocupe, já fiz isto muitas vezes, sem nunca falhar. Está de acordo?
O homem suspirou profundamente e disse:
– Entrego-me por completo nas tuas mãos. Desde que me faças desaparecer esta dor que sinto, estou disposto a tudo e mais alguma coisa.
Aomame retirou o picador de gelo do estojo e puxou a pequena rolha de cortiça cravada na extremidade. Como seria de esperar, a ponta estava fatalmente afiada. Agarrou nele com a mão esquerda e, com o dedo indicador da mão direita, procurou o ponto que encontrara momentos antes. Não havia dúvida. Era ali mesmo. Encostou o bico da agulha no ponto e inspirou profundamente. A única coisa que tinha de fazer era baixar a mão esquerda e, com um golpe seco, batendo sobre a pega como se esta fosse um martelo, fazer penetrar a ponta finíssima a direito, até ao fundo. Então tudo estaria terminado.
E, no entanto, algo a deteve. Por qualquer razão, Aomame mostrou-se incapaz de baixar o punho direito, que mantinha suspenso no ar.
Então tudo estará terminado. De um simples golpe, posso enviar este homem para o «outro lado». Depois, abandonarei o quarto com o ar mais descontraído desta vida, mudarei de nome e de rosto e obterei uma identidade diferente. Consegui-lo está na minha mão. Sem ter medo nem ficar com má consciência. Este homem tem cometido repetidas vezes as ações mais desprezíveis e merece, sem dúvida, a morte.
Porém, a verdade é que, por alguma razão obscura, não foi capaz de levar por diante o seu plano. O que fazia vacilar a sua mão direita era um sentimento de dúvida, a um tempo obstinado e incoerente.
As coisas estão a revelar-se demasiado fáceis, dizia-lhe o seu instinto, em tom de aviso.
Aquele raciocínio não tinha lógica. Era a única coisa que ela sabia. Havia ali qualquer coisa que não batia certo, qualquer coisa de anormal. Aomame sentia dentro dela forças distintas que se digladiavam, dando o corpo ao manifesto numa luta diabólica. Na obscuridade, o seu rosto contorceu-se violentamente.
– Que se passa? – perguntou o homem. – Continuo à espera desse toque final.
Ao escutar aquelas palavras, Aomame percebeu então o motivo por que tinha dúvidas. Este homem sabe. Ele sabe o que me preparo para lhe fazer.
– Não tenhas medo – disse o homem numa voz serena. – Está tudo bem. O que tu desejas é exatamente o que eu desejo.
Continuava a trovejar, porém, não se avistavam os relâmpagos. Apenas os trovões, à distância, soavam como disparos de canhão. O campo de batalha ainda se encontrava longe. O homem prosseguiu:
– Este, sim, é o tratamento perfeito. Executaste uma sessão de estiramentos musculares com grande cuidado, vê-se que te esmeraste. Sinto um grande respeito pelas tuas mãos. Todavia, como tu mesma disseste, não passa de uma panaceia. A dor que me consome está numa fase que só pode ser abolida eliminando a minha vida pela raiz. Não me resta outro remédio senão descer à cave e desligar o interruptor central. Tu vais fazer isso por mim.
Aomame continuava na mesma posição, empunhando a agulha na mão esquerda, com a extremidade apontada sobre a zona da nuca, e mantendo a mão direita levantada no ar. Sem poder avançar nem retroceder.
– Se eu quiser, impeço o que te preparas para fazer, agora mesmo. Seria uma brincadeira de crianças – disse o Líder. – Experimenta baixar a mão direita.
Aomame tentou fazer como ele lhe tinha dito, mas a mão direita não se moveu nem um bocadinho; continuava no ar, como que petrificada, à imagem de uma estátua.
– Repara, não que eu queira; digamos que estou dotado desse poder. Ah, é verdade, já podes mexer a mão direita. Voltas a ter um completo controlo sobre a minha vida.
Aomame deu-se conta de que podia movimentar outra vez a mão direita. Fechou o punho e voltou a abri-lo. Não sentia nada de anormal, a não ser, talvez, uma espécie de hipnose. Fosse o que fosse, tratava-se de uma energia muito poderosa.
– Foi-me concedido esse poder especial, mas, em troca, eles exigem de mim diversas coisas. Os seus caprichos converteram-se, por outras palavras, nos meus desejos. Caprichos por vezes implacáveis, que não consigo contrariar.
– Eles? – Aomame. – Refere-se ao Povo Pequeno?
– Com que então, sabes da existência deles... Bem, sempre poupamos tempo nas explicações.
– Só os conheço de nome. Não sei quem possa ser o Povo Pequeno.
– Não acredito que haja alguém que possa vangloriar-se de conhecer na sua essência o Povo Pequeno – disse ele. – Tudo o que sabemos acerca deles é que existem. Leste The Golden Bough8, de James Frazer?
– Não.
– É um livro muito interessante que nos ensina umas quantas verdades. Houve certas alturas da nossa história, e estamos a falar de tempos remotos, em que estava estabelecido, nas mais diversas partes do mundo, que o rei devia ser assassinado quando chegasse ao fim do seu mandato, o que acontecia por norma após um reinado que durava entre dez a doze anos. Finalizado esse período, as pessoas acorriam ao palácio e infligiam-lhe uma morte cruel. Era um ritual considerado necessário para a comunidade, que o próprio monarca aceitava de bom grado. Essa morte tinha necessariamente de ser cruel e sangrenta. E, mais, ser assassinado desse modo constituía uma grande honra, digna apenas de um rei. Perguntarás: por que motivo se tornava imperioso semelhante regicídio? Porque, naquela época, um rei era alguém que ouvia as vozes, em representação do povo. Por vontade própria, convertia-se no intermediário que assegurava a corrente da comunicação entre «nós» e «eles». Daí que, naquele tempo, matar cruelmente «o que ouve as vozes» era um ato indispensável, aos olhos de toda a comunidade, a fim de manter o equilíbrio entre a consciência dos seres humanos que vivem neste mundo e o poder exercido pelo Povo Pequeno. No mundo dos antigos, governar era sinónimo de escutar a voz dos deuses. Naturalmente que, como seria de esperar, esse sistema acabou por ser abolido. Os reis deixaram de ser assassinados, e o poder real transformou-se numa instituição laica e hereditária. E foi assim que as pessoas deixaram de ouvir as vozes dos deuses.
Aomame prestava atenção às palavras do homem, enquanto abria e fechava de forma inconsciente a mão direita, que continuava suspensa no ar.
O homem prosseguiu:
– Até agora, ao longo do tempo, eles receberam diferentes nomes e, na maioria das vezes, não lhes chamaram nada. Eles existiam, simplesmente. Em todo o caso, a expressão «Povo Pequeno» foi-lhes atribuída por uma mera questão de conveniência. Quando era miúda, a minha filha chamava a essa gente «os homens pequenos». No fundo, começou tudo por aí. Eu só mudei para «Povo Pequeno» por ser mais fácil de pronunciar.
– E passou a ser o rei.
O homem inspirou com força pelo nariz e manteve o ar nos pulmões durante um bocado. A seguir, expulsou-o lentamente.
– Não sou o rei. Converti-me naquele «que ouve as vozes».
– E agora deseja que alguém o assassine cruelmente.
– Não, não tem de ser uma morte cruel. Estamos no ano de 1984, no coração de uma grande cidade. Não é obrigatório que haja derramamento de sangue. Basta que me tires a vida.
Aomame abanou a cabeça e relaxou os músculos do corpo. A agulha continuava encostada à nuca, no ponto certo, mas a vontade de assassinar aquele homem era nula.
Aomame disse:
– O senhor violou muitas meninas. Rapariguinhas que tinham apenas dez anos de idade.
– Tens razão – reconheceu o homem. – À luz do senso comum, sou forçado a admitir que existem determinados aspetos no meu comportamento que podem ser interpretados negativamente. Pelas leis do Código Civil, sou um criminoso. Mantive relações carnais com raparigas que nem sequer haviam atingido a maturidade. Ainda que não tivesse acontecido por vontade própria.
Aomame limitava-se a respirar pesadamente. Não sabia o que fazer para acalmar a violenta comoção que tomava conta de si. O seu rosto apresentava-se distorcido e tanto a mão esquerda como a direita pareciam querer alcançar coisas diferentes.
– Desejo que me tires a vida – disse o homem. – Não faz sentido que continue a existir. Sou uma pessoa que deve ser liquidada, a fim de preservar o equilíbrio no mundo.
– Que acontecerá a seguir, no caso de eu o matar?
– O Povo Pequeno perderá aquele que ouve as vozes. Ainda não tenho sucessor.
– Como é possível acreditar nessas coisas? – Aomame quase cuspiu as palavras. – Se formos ver melhor, pode ser apenas mais um pervertido sexual que recorre a uma lógica oportunista para justificar os seus atos obscenos e ignóbeis. A páginas tantas, o Povo Pequeno nunca existiu, assim como não existe a voz dos deuses, nem existem as graças divinas. Se calhar, o senhor não passa de um miserável impostor que, como tantos outros neste mundo, é tomado por profeta e se faz chamar Líder.
– Estás a ver aquele relógio? – perguntou o homem, sem levantar a cabeça. – Acolá, em cima da cómoda, à tua direita.
Aomame olhou para a direita. Havia uma cómoda de linhas curvas, que chegaria à altura da cintura, e em cima via-se um relógio de mesa em mármore. Parecia ser um objeto bastante pesado.
– Quero que olhes para esse relógio. Não desvies o olhar.
Aomame rodou a cabeça e, de perfil, observou com atenção, tal como ele lhe pedira. Debaixo dos seus dedos sentiu os músculos do homem ficarem tensos, duros como pedra. Encerravam em si uma energia de uma intensidade incrível. Então, como que correspondendo a essa força, o relógio começou a separar-se lentamente da superfície da cómoda e a levitar. Elevou-se cerca de cinco centímetros, manteve-se a essa altura registando ligeiros estremecimentos, como se hesitasse, e ali permaneceu durante uns dez segundos, flutuando no ar. Quando os músculos do homem perderam a sua energia, o relógio caiu sobre a cómoda produzindo um rumor surdo. Dir-se-ia que, de súbito, se tinha lembrado de que na Terra existia uma coisa chamada força da gravidade.
O homem, extenuado, soltou um suspiro que nunca mais acabava.
– Até mesmo para uma brincadeira destas preciso de uma energia descomunal – disse ele, depois de expulsar todo o ar que tinha dentro dos pulmões. – É o suficiente para encurtar a duração da minha vida. Ao menos, espero que tenhas ficado convencida de que não sou um banal impostor.
Aomame não lhe deu troco. O homem procurava recuperar o vigor físico inicial, através de uma série de exercícios respiratórios. O relógio continuava a marcar as horas em cima da cómoda, como se não tivesse acontecido nada. Estava apenas ligeiramente na diagonal. Aomame fitou o relógio enquanto o ponteiro dos segundos dava uma volta completa.
– Possui um dom especial – reconheceu Aomame secamente.
– Como acabaste de ver.
– No romance Os Irmãos Karamázov, se bem me lembro, há uma história sobre Cristo e o Diabo – referiu Aomame. – Estando Cristo no meio do deserto, entregue a duras práticas ascéticas, pede-lhe o Diabo que faça um milagre: converter uma pedra em pão. Contudo, Cristo ignorou-o, porque o milagre não passa de uma tentação de Satanás.
– Bem sei. Também eu li Os Irmãos Karamázov. Tens toda a razão no que dizes. Este tipo de demonstrações que entram pelos olhos dentro não resolvem nada. Acontece, porém, que precisava de te convencer, e não disponho de muito tempo. Por isso me decidi a levar por diante esta experienciazinha.
Aomame permaneceu calada.
– Neste mundo não existe a bondade absoluta nem a maldade absoluta – enunciou o homem. – O bem e o mal não são entidades estáticas e intangíveis, mas sim valores que estão sempre a trocar de lugar e de posição. O que hoje é considerado o «bem» pode transformar-se no «mal» enquanto o diabo esfrega um olho. O mesmo acontece no mundo que Dostoiévski descreve em Os Irmãos Karamázov. O importante é preservar o equilíbrio entre esse bem e esse mal em perpétuo movimento. O facto de um dos dois se inclinar demasiado para um lado dificulta a conservação da moral realista. Sim, o bem é o equilíbrio em si mesmo. Quando digo que devo morrer para manter o equilíbrio, é nesse sentido.
– Eu não sinto necessidade de o matar, neste momento – declarou Aomame. – Calculo que saiba, mas vim aqui para o executar. Não posso permitir que uma pessoa como o senhor continue a existir. Era minha intenção eliminá-lo, de uma maneira ou de outra. Contudo, já não tenho essa «vontade». A dor que sente é terrível, sou testemunha disso, e eu posso acabar com o seu sofrimento. Merecia uma morte lenta, atormentado pelas dores que o consomem, feito em pedaços. Contudo, nego-me a conceder-lhe uma morte tranquila, com as minhas próprias mãos.
O homem anuiu com a cabeça, deitado na mesma posição, de barriga para baixo, e disse:
– Se me matares, a minha gente irá atrás de ti e perseguir-te-á aonde quer que vás. São fanáticos, todos eles, detêm poder e move-os a persistência. No caso de eu desaparecer do mapa, a comunidade irá perdendo aos poucos a sua força unificadora. Mas o sistema, esse, uma vez constituído, adquire vida própria e continua a existir.
Aomame escutava o que o homem, deitado de borco, lhe contava.
– Lamento muito o que fiz à tua amiga.
– À minha amiga?
– A tua amiga que tinha umas algemas. Como se chamava ela?
De repente, Aomame sentiu uma grande calma invadi-la. Deixara de haver qualquer conflito. Sobre ela caía apenas um silêncio pesado.
– Ayumi Nakano – disse Aomame.
– Foi uma desgraça o que lhe aconteceu.
– O senhor é que fez aquilo? – perguntou Aomame num tom frio. – Matou a Ayumi?
– Não, não. Eu não a matei.
– Contudo, por qualquer razão, parece saber quem a matou.
– O detetive ao nosso serviço investigou o assunto – explicou o homem. – Não sabemos quem a poderá ter assassinado. A única coisa que sei é que a tua amiga, que era agente da polícia, foi estrangulada num hotel.
O punho direito de Aomame voltou a cerrar-se com força.
– Mas acabou de dizer: «Lamento muito o que fiz à tua amiga.»
– Queria dizer que não pude impedir o que aconteceu. Independentemente de ela ter sido assassinada, o facto é que o inimigo procura atacar sempre a parte mais frágil, quando se propõe atingir um determinado objetivo. É o mesmo que acontece quando os lobos escolhem o carneiro mais débil do rebanho e se lançam em perseguição dele.
– Está a querer dizer que a Ayumi constituía o meu ponto fraco?
O homem não lhe deu resposta.
Aomame fechou os olhos.
– Porquê matá-la? Era boa rapariga. Não tinha feito mal a ninguém. Porquê? Porque eu me envolvi em todo este assunto? Se foi por isso, bastaria que me tivessem eliminado.
O homem respondeu:
– Eles não te podem eliminar.
– Porquê? – quis saber Aomame. – Por que razão não me podem eliminar?
– Porque te transformaste num ser especial.
– Um ser especial? Especial em que sentido?
– Isso é o que irás descobrir a seu tempo.
Aomame contraiu de novo o cenho.
– A seu tempo?
– Quando chegar a hora.
Aomame abanou a cabeça.
– É impossível perceber o que diz.
– Não tarda, irás perceber.
– Em todo o caso, e se bem entendi, eles não me podem atacar. Por isso, escolheram investir sobre os pontos fracos que existem à minha volta, em jeito de alerta. Para me avisarem do que são capazes. Para me impedirem de lhe tirar a vida.
O homem deixou-se ficar calado. Era um silêncio que funcionava como uma confirmação.
– É terrível – disse Aomame, abanando a cabeça. – Assassinaram a Ayumi, quando isso não serviu para mudar nada.
– Não, eles não são assassinos. Nunca eliminam ninguém pelas suas próprias mãos. O que matou a tua amiga foi provavelmente alguma coisa que ela já albergava dentro dela. Mais cedo ou mais tarde, ia acontecer uma tragédia do género. A tua amiga expunha-se a muitos riscos, da forma como vivia. Eles limitaram-se a providenciar o estímulo. Como quando se carrega no botão do temporizador para mudar o tempo programado.
A programação do temporizador?
– Ayumi não era nenhum forno elétrico. Estamos a falar de uma pessoa de carne e osso. Quer ela levasse uma vida cheia de riscos ou não, era uma grande amiga que eu ali tinha. Vocês levaram-ma, arrebataram-na da minha vida com uma indiferença assustadora. De um modo absurdo e impiedoso.
– A ira que sentes é inteiramente justificada – disse o homem. – Deves dirigi-la contra a minha pessoa.
Aomame abanou de novo a cabeça.
– Mesmo que lhe tire a vida, isso não fará com que a Ayumi regresse para junto de mim.
– Pois não, mas vai permitir-te, em certa medida, retaliar contra o Povo Pequeno. Posto de outro modo, podes vingar-te. Eles não desejam a minha morte. Se eu morresse agora, iria criar um vazio. Pelo menos, um vazio temporal, até que haja um sucessor. Representaria um duro golpe para eles. E, ao mesmo tempo, só teria vantagens para ti.
Aomame não se deu por convencida.
– Alguém disse uma vez que não há nada que custe mais caro e seja menos produtivo do que a vingança.
– Winston Churchill. Mas, se a memória não me atraiçoa, pronunciou essas palavras para justificar a insuficiência orçamental do Império britânico. Não se pode ler na frase qualquer implicação moral.
– Estou-me nas tintas para a moral. Mesmo que eu não levante a mão contra si, está condenado a morrer em agonia, e o seu corpo será consumido por essa coisa de natureza desconhecida. Por que razão haveria de sentir piedade? Não será por culpa minha que o mundo corre o risco de perder o equilíbrio e os seus princípios morais.
O homem tornou a respirar fundo.
– Estou de acordo. Compreendo o teu ponto de vista. Bom, vamos fazer o seguinte. Proponho-te uma espécie de pacto. Se me tirares a vida agora mesmo, em troca procurarei poupar a vida ao Tengo. Ainda me resta algum poder.
– Tengo – murmurou Aomame. A energia abandonou o seu corpo. – Também sabe isso.
– Sei tudo acerca de ti. Já te tinha dito, não? Melhor dizendo, quase tudo.
– É impossível que possa ter descoberto muitas coisas a esse respeito. O nome do Tengo permaneceu sempre dentro do meu coração e nunca saiu de lá.
– Aomame – disse o homem, deixando escapar um suspiro fugaz. – Não existe nada neste mundo que não saia dos nossos corações. Além disso, nos tempos que correm, acontece por acaso... deverei dizer?... que o senhor Tengo Kawana se transformou numa figura de não pouca importância para nós.
Aomame ficou sem fala.
O homem continuou a sua ladainha.
– Para ser mais preciso, diria que a sorte não tem nada que ver com o assunto. Os vossos destinos não se cruzaram por mera obra do destino. Puseram os dois o pé neste mundo porque tinha de acontecer. E, uma vez cá dentro, quer isso vos agrade ou não, cada um terá o seu papel a desempenhar.
– O pé neste mundo?
– Sim, neste ano de 1Q84.
– 1Q84? – repetiu Aomame. A sua cara transformara-se numa espécie de máscara distorcida. Fui eu que inventei essa palavra!
– Tens razão. Trata-se de uma palavra criada por ti – disse o homem, como se acabasse de ler os pensamentos dela. – Estou apenas a utilizá-la, a título de empréstimo.
O ano de 1Q84. Aomame articulou as palavras na sua boca.
– Não existe nada neste mundo que não saia dos nossos corações – tornou a dizer o homem numa voz tranquila.
8 O Ramo de Ouro, numa possível tradução à letra (ainda não foi editado em português). É considerado um dos primeiros trabalhos de antropologia cultural. Apesar de as suas conclusões se encontrarem já um pouco ultrapassadas, o material recolhido continua a fazer dele uma obra de referência. (N. das T.)













